

EXPEDIENTE
A Revista Ressonâncias é uma publicação relacionada à temática de migração e refúgio, desenvolvida na Universidade Federal do Paraná (UFPR).
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ:
Reitor: Ricardo Marcelo Fonseca
Vice-Reitora: Profª. Drª. Graciela Ines Bolzón de Muniz
ISSN: 2965-4033


CORPO EDITORIAL
Maria Cristina Figueiredo Silva (UFPR)
Maria Gabriel (UFPR)
Jeniffer Albuquerque (UTFPR)
PARECERISTAS
Ayumi Nakaba Shibayama (UFPR) | Cláudia Daher (UFPR) |
Denise Cristina Kluge (UFRJ) | Elisa Novaski Cordeiro (UTFPR)
| Ellen Yurika Nagasawa (UFRGS) | Fernanda Deah Chichorro
Baldin (UTFPR) | Fernanda Veloso (UFPR) | Patrick Decher
Bondaruk (Universidade Positivo) | Reiner Vinicius Perozzo
(UFRGS) | Ubiratã Kickhöfel Alves (UFRGS)
COLABORADOR CONVIDADO
Dieugo Pierre (UFPR)
COLABORADORES
Amarilys Lackner Salomão | Ana Carolina Oliveira Freitag | Ana Paula Romani | Camila
Akemi Aoto | Cláudia Regina Hasegawa Zacar | Dieugo Pierre | Emanuelly Perlas
Condori | Graziela Lucchesi Rosa da Silva | Isabelle Borowski | Jovania Maria Perin
dos Santos | Júlia Raniero Pandini | Julia Santos Barros | Leticia Alves Lippe | Letícia
Leonor Brandão Costa | Luana Lubke de Oliveira | Luisa Martins de Abreu e Lima |
Maria Cristina Figueiredo Silva | Maria Gabriel | Mariana Soares de Andrade | Mayssun
Omari Osman | Nathalia Ribeiro Tsiflidis | Nathan Gabriel Balaguer | Rony Remy | Tayla de Souza Silva | Thais Watanabe | Thiago Martins | Victória de Biassio Klepa
REVISTA RESSONÂNCIAS
R. General Carneiro, 460, 5º andar, sala 514
Curitiba - Paraná - Brasil
ressonancias.ufpr@gmail.com

REVISÃO DOS TEXTOS
Maria Cristina Figueiredo Silva
Tayla de Souza Silva
PROJETO GRÁFICO

Juliana Stinghen | Marcel Pace
DIAGRAMAÇÃO
Júlia Raniero Pandini | Leticia Alves Lippe
Volume 2 | Número 2 | Agosto de 2023
Maria Gabriel, Maria Cristina Figueiredo Silva, Jeniffer Albuquerque e Graziela Lucchesi Rosa da Silva
Onde você

Jovania Maria Perin Santos
SUS
Maria Cristina Figueiredo Silva
124
CONTRAPONTOS
Oficina de colagem
Cláudia R. H. Zacar, Isabelle Borowski, Julia Santos Barros, Letícia Leonor Brandão Costa
136
Encontro online com crianças migrantes
Graziela Lucchesi Rosa da Silva, Maria Gabriel, Ana Paula Romani, Amarilys Lackner Salomão, Camila Akemi Aoto, Luana Lubke de Oliveira, Luisa Martins de Abreu e Lima, Mayssun Omari Osman, Nathan Gabriel Balaguer, Nathalia Ribeiro Tsiflidis, Thiago Martins, Thais Watanabe, Victória de Biassio Klepa.
REVERBERAÇÕES

A Revista Ressonâncias é uma revista de estudos relacionados à migração, refúgio e hospitalidade, tendo como principal premissa disponibilizar e ampliar o acesso a materiais de apoio didático de Português Brasileiro como Língua Adicional e Português Brasileiro como Língua de Acolhimento a comunidades de migrantes em situação de refúgio, de acolhida humanitária e de vulnerabilidade social, bem como a professores em formação inicial e/ou continuada que trabalhem com esse público. Ademais, somos um veículo de apresentação de artigos, resenhas e traduções sobre a temática dos ciclos migratórios e temas afins, possibilitando um espaço interdisciplinar para discussão e reflexão.
Devemos ressaltar que a revista nasce como fruto das reflexões teóricas e dos materiais de apoio didático elaborados pelos docentes e colaboradores da Cátedra Sérgio Vieira de Melo da Universidade Federal do Paraná (UFPR) através do projeto de extensão PBMIH - Português Brasileiro para Migração Humanitária, também da UFPR. Contudo, agora nos anos de pandemia, a pesquisa sobre o tema continuou independentemente das aulas ministradas no projeto, de modo que a Revista passa a ser um projeto autônomo em relação ao PBMIH. Ainda assim, acreditamos na necessidade de fazer ressoar as reflexões produzidas em, a partir e por meio da sala de aula, a qual contém a identidade de um projeto diverso, heterogêneo e plural.


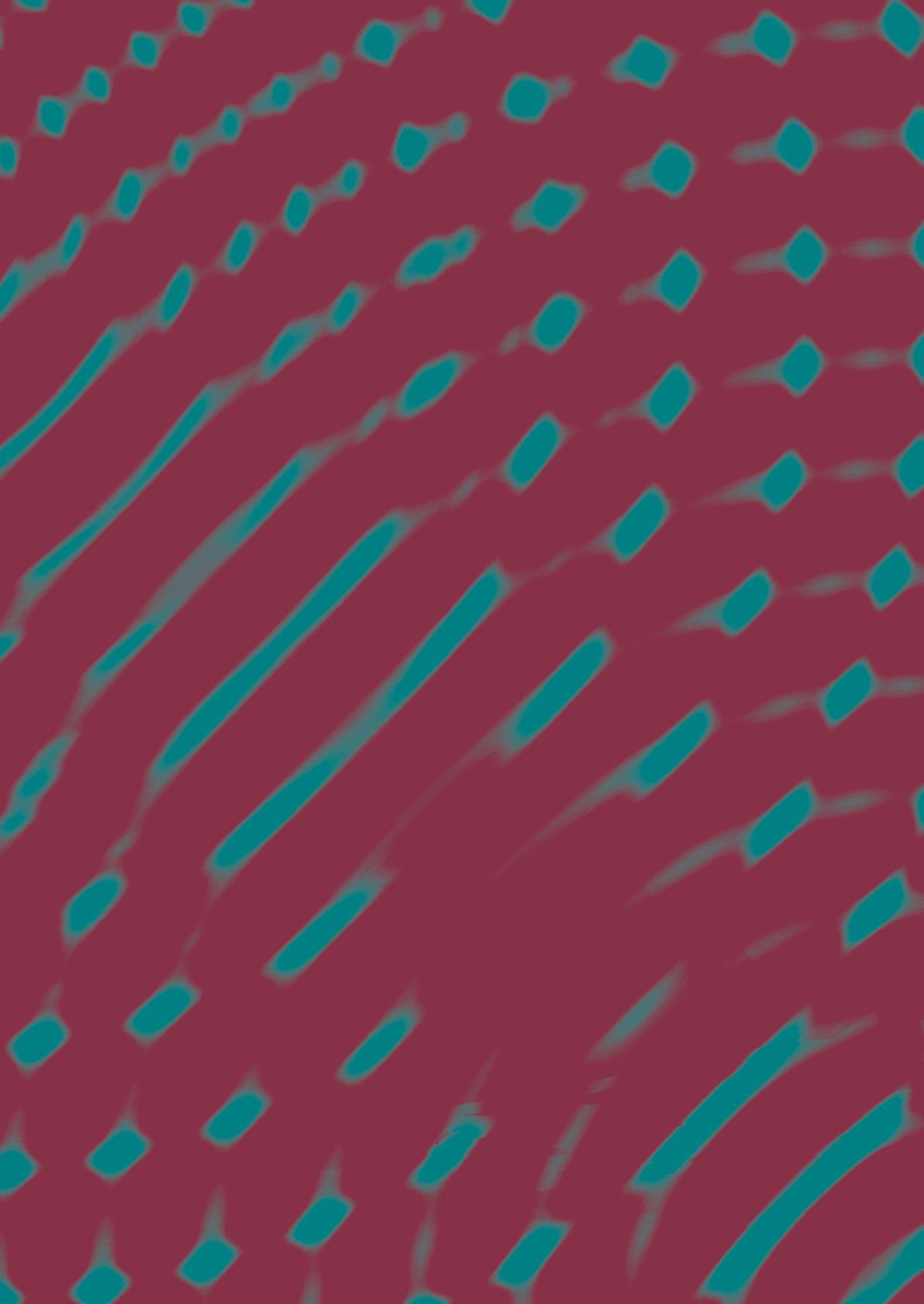
APRESENTAÇÃO:
Cenários e desafios em tempos de COVID: ações do projeto de extensão universitária Português para Migração
Humanitária (PBMIH-UFPR)


Lá em meados de março de 2020, quando ficou claro que estávamos mesmo vivendo uma pandemia, que os casos já estavam no Brasil e em Curitiba, era exatamente a semana em que começaríamos os cursos de português para migrantes que oferecíamos na época aos sábados de tarde. O projeto PBMIH sempre se preocupou em estabelecer um diálogo com as demandas da comunidade migrante e, em resposta a isso, em 2020 abriríamos 5 turmas de um dos níveis mais procurados naquele momento: o pré-intermediário. Isso garantiria vaga para 100 alunos, o que era apenas possível com a dedicação e a colaboração de graduandos e pós-graduandos do curso de Letras da UFPR. Contudo, como diversos outros projetos em Curitiba, que também atendem a comunidade migrante, tivemos que suspender as
atividades presenciais e repensar a dinâmica do trabalho.
Não começar os cursos foi frustrante para nós e para os nossos graduandos em Letras, professores dessas turmas. Dado o momento de grande instabilidade econômica, emocional e de saúde, de modo geral, éramos incapazes de projetar a realidade que estávamos enfrentando e o que estaria por vir. O impacto da pandemia e dos desdobramentos que ela gerou foi grande e incomensurável para a comunidade migrante devido às especificidades que envolvem o contexto da migração forçada contemporânea. Nossos laços com a população sempre foram próximos e afetuosos e a não oferta de cursos e das demais atividades nos fizeram refletir sobre como poderíamos manter o vínculo e nos fazermos presentes na distância física.
A questão aqui é simples – e quem trabalha com migrantes entende bem do que estamos falando: sim, é verdade que convivemos com histórias de vida pesadas, de quem perdeu tudo na guerra ou em catástrofes naturais, de quem viu minguar o sonho de uma vida digna em condições políticas ou econômicas precárias. As histórias são mais que tristes: são chocantes, muitas vezes revoltantes! Mas o outro lado dessa moeda é a alegria genuína que brota dos migrantes – e que vivenciamos na convivência com eles! A esperança de reconstruir a vida em outro lugar, a gratidão por uma oportunidade de recomeçar, a alegria de estar vivo, isso tudo é de uma força indescritível! Quem se aproxima desse universo só se aproxima mais depois e, depois ainda, não quer mais sair. É por isso que a questão é relevante: como manter nosso vínculo sem estarmos próximos fisicamente?
Dado o novo cenário, a crise sanitária que se instaurou com a disseminação da Covid-19 resultou, também, em uma crise informacional. Observamos que, diariamente, as medidas sanitárias de proteção e prevenção ao vírus eram estabelecidas e modificadas, ao mesmo tempo em que novas informações eram divulgadas pelos órgãos competentes de saúde. A velocidade das mudanças nas medidas sanitárias e os novos protocolos implementados pelos órgãos públicos geraram um grande volume de informação essencial para a segurança, mobilidade e convívio em sociedade. Tínhamos, nós mesmos, dificuldade em acom-
panhar e executar essas medidas e passamos a nos perguntar como a comunidade migrante estava recebendo e lidando com essa realidade. Assim, nossa primeira ação foi desenvolver um material, em parceria com o projeto de extensão universitária da UFPR – Caminhos do SUS – que informasse sobre a rede de assistência médica em Curitiba. É importante destacar que já havia uma equipe interdisciplinar (composta por alunos e professores dos cursos de Comunicação, Psicologia, Letras e Design) com quem trabalhamos inclusive na produção do primeiro número da Revista Ressonâncias, que, nesse momento, dedicou-se à elaboração desse material juntamente com migrantes, ex-alunos do PBMIH, de modo a garantir, no material final, qualidades como ser visualmente agradável e fácil de manipular. O material foi produzido em português e traduzido para cinco outras línguas (crioulo-haitiano, árabe, francês, inglês e espanhol).
Esse primeiro material, publicado em 6 de abril de 2020, ainda traz um pouco a ideia de folheto que havíamos visto num material distribuído pela Prefeitura de Curitiba, dirigido especificamente aos migrantes hatianos; porém, a seguir, no dia 9 de abril, outro material veio a público, com tema atinente ao auxílio emergencial do governo federal, agora já com um formato desenvolvido pela equipe reconfigurada do PBMIH, com qualidades particulares: telas simples, conteúdo objetivo, de fácil manuseio nas redes sociais (em formato car-

rossel para o Facebook e o Instagram, e em formato pdf para ser compartilhado por WhatsApp), e novamente com informação gabaritada em seis línguas. Ainda em abril, no dia 14, foi postado um novo material sobre crédito alimentar de 70 reais para as famílias das crianças matriculadas na rede municipal de Curitiba, para compras nos armazéns da família de Curitiba. A agilidade das informações foi um diferencial nesse momento do nosso trabalho.
Em maio de 2020, mais três materiais foram produzidos: um que ensinava como fazer, usar e higienizar máscaras de proteção caseiras, outro que visava o combate à violência doméstica durante a pandemia e um terceiro sobre como se inscrever no CadÚnico; em junho, mais dois materiais vieram a público: um sobre seguro desemprego e outro sobre como agendar horário para vagas de emprego na agência do Trabalhador.
A nossa parceria já estabelecida há tempos com professores e alunos do curso de Psicologia da UFPR nos permitiu também a produção de materiais voltados para o cuidado com a saúde mental, tanto dos adultos (preocupação do material publicado em julho de 2020) quanto da saúde mental das crianças (publicado em agosto de 2020). Em novembro também foi produzido um material com conteúdo dessa mesma natureza: trata-se de um material que abordou o problema de vivenciar o luto na pandemia, um problema que se colocou para um sem número de famílias, sejam elas de brasileiros ou de estrangeiros.

Ainda produzimos mais dois materiais em setembro e um em outubro que forneciam orientações objetivas para evitar a contaminação na rua, para evitar a contaminação ao chegar em casa e também orientações para higienizar os alimentos. O último material produzido, já em setembro de 2021, foi a respeito de doença falciforme em crianças.
A questão da violência doméstica foi uma questão que mobilizou também o Observatório de direitos humanos da UFPR e a Caritas Paraná, parceria que permitiu a criação da cartilha “Valente é a sua voz!”, cujo intuito foi instruir a mulher migrante acerca das leis brasileiras no que tange à violência doméstica. Esse é um material mais longo, com 25 páginas, que contou com o apoio da ACNUR-BR para promover a distribuição 10 mil cópias impressas no estado do Paraná.
Foram ao todo 17 materiais, todos disponíveis no site https://www.pbmihufpr.com/, que podem ser vistos, compartilhados e usados por toda a comunidade, no Brasil e no exterior. Eles refletem nosso envolvimento e comprometimento com os nossos alunos, mesmo numa situação em que os cursos tradicionais não poderiam ser oferecidos.
Assim, embora o trabalho de ensino em sala de aula tenha parado durante a pandemia, o nosso trabalho de extensão a rigor não parou, como não parou também o nosso trabalho de pesquisa sobre ensino de português brasileiro no contexto migratório. A Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-gradução da UFPR propôs, no segundo semestre de 2020, um edital para grupos de pesquisa ativos na universidade, que poderiam tanto pedir bolsas de iniciação científica quanto a compra de materiais pra laboratórios. O projeto por nós apresentado e contemplado no Edital 06/2020 propunha exatamente a produção de materiais didáticos de tipo lúdico e também no formato de aulas que poderiam ser ministradas no contexto do PBMIH. Desse modo nasceu o material que compõe o presente número da Revista Ressonâncias. Evidentemente, tudo o que produzimos no grupo foi submetido à organização da revista, passando por pareceristas que fizeram sugestões ou exclusões e o resultado é este que ora se apresenta.
Portanto, além deste Prelúdio, o segundo número da revista Ressonâncias é compos-
to por materiais didáticos voltados para os níveis básico, intermediário e avançado, e ainda por outros textos que integram as seções Contrapontos e Reverberações. Voltado para o nível básico, o primeiro material, intitulado “Onde você mora?” vai se debruçar sobre a descrição do local de moradia do aluno e informações sobre ela, como o que tem na vizinhança; o material inclui exercitar a escrita de e-mails e também o tratamento de estruturas linguísticas que estão implicadas na localização espacial de pessoas e de coisas, como os verbos “ser” e “estar”. Para esse mesmo nível, temos um segundo material, com título “SUS”, que trabalha com um tema sempre extremamente útil e de grande relevância, durante a pandemia e fora dela, como hoje sabemos sem qualquer sombra de dúvida. Esse material apresenta a estrutura do SUS para os migrantes, além de sugerir os passos para cada um se cadastrar no sistema e assim ter acesso à saúde pública no Brasil. O tópico gramatical abordado é a resposta a perguntas afirmativas, que em português faz uso do verbo conjugado usado na pergunta.
No nível intermediário, temos o material intitulado “É só uma picadinha!”, que versa novamente sobre o tema da saúde, agora abordando o problema da doação de sangue. O tópico gramatical examinado é o diminutivo, cujo uso é característico do falar brasileiro, seja para expressar tamanho, seja com conotação afetiva das mais diversas, uma sensibilidade que o material procura evocar no migrante.
Para o nível avançado, temos dois materiais: o primeiro, “Reza a lenda”,
que versa sobre histórias folclóricas brasileiras, procura trabalhar o gênero textual lenda e assim, para abordar a questão das narrativas, escolhe revisar os tempos verbais do passado como tópico gramatical. O segundo, “Vai no Bixiga pra ver!”, aborda o samba brasileiro, fazendo uma relação entre memória e história na cidade de São Paulo. Aqui, o trabalho mais propriamente gramatical é com certas características do gênero relato, que abrangem marcas temporais das sentenças e conectores usados para ligá-las.

A seção Contrapontos apresenta dois relatos: o da oficina de colagem promovida pela Entrelaços, visando à manutenção dos laços afetivos e de trabalho que foram construídos durante os últimos anos do PBMIH com as mulheres participantes do projeto; e o da oficina de encontro online com as crianças participantes do projeto Pequenos do Mundo e seus pais ou responsáveis, um trabalho com duas partes: a oficina 1 sobre aprendizagens e sentimentos; e a oficina 2, intitulada “Volta ao mundo”.
Finalmente, na seção Reverberações, temos um texto a respeito da integração dos estudantes haitianos à UFPR, por meio do programa de Reingresso. Temos aqui uma avaliação feita de dentro, por um haitiano participante do programa, o Dieugo Pierre, que avalia os prós e os contras do programa, suas vitórias e seus fracassos também. Esse texto é apresentado em português e também em crioulo haitiano, numa tradução feita por Rony Remy.
Gostaríamos de finalizar este Prelúdio reafirmando o nosso compro-
misso com a população migrante, razão pela qual retomamos as atividades de aulas presenciais neste segundo semestre de 2022, num momento em que a pandemia parece ter arrefecido. Fizemos isso com bastante cuidado e por enquanto só com poucas turmas e turmas pequenas, na tentativa de garantir a saúde tanto dos alunos migrantes quanto dos nossos graduandos que são os professores das turmas (tutelados por algum professor mais experiente).
O prazer de retomar as aulas e a produção de material didático é indescritível, o que já nos faz começar a pensar no novo número da revista Ressonâncias para muito em breve!
Esperamos que estes materiais sejam úteis e que a leitura deles seja prazerosa!
BIBLIOGRAFIA
ALBUQUERQUE, Jeniffer; GABRIEL, Maria; ANUNCIAÇÃO, Renata Mendonça de. O papel do entorno no acolhimento e na integração de populações migrantes para o exercício pleno da cidadania. In: GEDIEL, José Antônio; GODOY, Gabriel (Orgs.). Refúgio e hospitalidade. Curitiba: Kairós, 2016, p.359 - 380.
BAKHTIN, Mikhail M. Para uma filosofia do ato responsável . Trad. de Valdemir Miotello e Carlos Alberto Faraco. São Carlos: Pedro & João Editores, 2010.
CABETE, Marta Alexandra. O processo de ensino-aprendizagem do português enquanto língua de acolhimento. Dissertação (Mestrado em Língua e Cultura Portuguesa) –Universidade de Lisboa, Lisboa, 2010.
CURSINO, Carla; ALBUQUERQUE, Jeniffer; FIGUEIREDO SILVA, Maria Cristina; GABRIEL, Maria; ANUNCIAÇÃO, Renata Mendonça de. Português Brasileiro para Migração Humanitária (PBMIH): reflexões linguísticas e pedagógicas para o ensino de PLE em contexto de migração e refúgio. In: RUANO, Bruna Pupatto; SANTOS, Jovania Perin; SALTINI, Lygia. (Orgs.) Cursos de Português como Língua Estrangeira No Celin-UFPR: práticas docentes e experiências em sala de aula. Curitiba: Editora UFPR, 2016. p. 287-334.
DERRIDA, Jacques. Cosmopolitas de todos os países, mais um esforço! Coimbra: Minerva, 2001.
GABRIEL; Maria; ALBUQUERQUE, Jeniffer. Momentos críticos: formação informada no ensino-aprendizagem de PLA em contexto de refúgio e migração. No prelo, 2019.
GROSSO, Maria José. Língua de acolhimento, língua de integração. Revista Horizontes de Linguística Aplicada, v. 9, n. 2, p. 61-77, 2010.
NORTON, Bonny. Identity and language learning: extending the conversation. Bristol: Multilingual Matters, 2013.


NÍVEL: BÁSICO
ONDE VOCÊ MORA?
AULA: roteiro didático
Situações de uso
■ Descrever o lugar onde mora; dar sugestões sobre moradia; preencher envelope de correspondência.

Expectativa de Aprendizagem
■ Refletir sobre suas vivências enquanto migrante;
■ Praticar vocabulário relacionado à localização;
■ Descrever lugares, sobretudo a rua onde mora;
■ Ouvir relatos de pessoas falando sobre o local onde moram;
■ Preencher envelope de correspondência dos Correios;
■ Usar formas verbais para falar de fatos permanentes e temporários.
Autora: Jovania Maria Perin Santos
Professor(a), esta aula se destina a contribuir para que os alunos falem sobre o local onde moram e reflitam sobre as suas vivências enquanto migrantes. A proposta de ensino tem também a finalidade de ampliar o repertório linguístico relacionado à localização e de contribuir para a prática de situações comunicativas como: explicar onde mora, enviar correspondências, preencher seus dados em formulários, compreender pessoas falando sobre si e sobre o local onde vivem. Com isso, espera-se contribuir para a maior integração dos estudantes nos locais onde vivem. Como esta unidade é de nível básico, propõe-se a ampliação do vocabulário e, para isso, é fornecido um quadro com palavras e expressões de apoio, a fim de ampliar conhecimentos e instigar a curiosidade para aprender mais sobre o tema.
Recomenda-se que esta não seja a primeira unidade de estudo aplicada. Espera-se que os alunos já tenham praticado conteúdos sobre apresentação pessoal, rotina, bem como estudado a conjugação dos verbos regulares e de alguns irregulares no tempo verbal presente do modo indicativo. Esta unidade didática se propõe também a provocar uma reflexão sobre o uso de dois verbos que, em geral, oferecem bastante dificuldade para os alunos, sobretudo os falantes de línguas como o francês, o inglês, o árabe, entre outras. Sobre o estudo desses verbos, entende-se ser necessário iniciar com um processo de percepção do seu uso; portanto, professor(a), não se preocupe em dar explicações muito detalhadas sobre eles nesse momento da aprendizagem, mas procure sensibilizar os alunos quanto a algumas características de uso desses verbos. No artigo de Santos e Figueiredo Silva (2019), você terá mais informações sobre esses verbos.
PARA COMEÇAR
Professor(a), a seção “Para começar” tem por finalidade aproximar os alunos da temática a ser desenvolvida e inicia com uma proposta de reflexão sobre a condição de migrante em relação à sua terra natal e à moradia. Por isso, sugere-se iniciar com uma frase do livro “Minha terra mora em mim”, de Bruna Kadletz (2019). A partir do conteúdo da frase, os alunos devem ser convidados a falar sobre as mudanças que têm vivenciado. Nesse momento da aprendizagem, é possível que alguns estudantes não consigam falar detalhadamente sobre o assunto, pois estão no nível básico de aprendizagem. Por isso, na primeira discussão, podem ser incentivados a usar a sua língua materna ou uma língua que seja de conhecimento dos participantes do grupo e do professor. Na sequência, são apresentadas duas questões que servem para instigar os alunos a falarem sobre o tema. Recomenda-se, também, que seja usada a música “Eu não sou da sua rua”, de autoria de Arnaldo Antunes. A letra dessa música não exige muito em termos de vocabulário e de itens gramaticais e está relacionada à temática da unidade, principalmente à atividade inicial. Você poderá levar a letra da música impressa e fazer algumas perguntas de compreensão como: Onde a pessoa da música mora? Com quem ele/ela mora? A pessoa vai ficar nesse lugar por muito tempo? Ele/ ela tem vizinhos? Que línguas ele/ela fala? Entre outras.
PARA OUVIR

A próxima atividade tem por finalidade a prática da compreensão de áudios. Os alunos vão ouvir três depoimentos, sendo eles de autoria de uma haitiana, de um congolês e de uma brasileira, todos falando sobre o local onde moram. A proposta inicia com áudios de migrantes e, por isso, espera-se que sejam de fácil compreensão; já o terceiro depoimento é de uma brasileira falando em ritmo normal de fala, portanto, pode apresentar maior dificuldade. Professor(a), você deve passar os áudios e, inicialmente, fazer perguntas de compreensão de cada depoimento. Em seguida, deve propor as questões que constam na unidade didática para identificação do conteúdo. Somente depois é recomendável passar os áudios novamente e mostrar a transcrição da fala dos participantes.
Os diferentes níveis de dificuldade apresentados nos áudios contribuem para que todos os alunos se sintam contemplados, já que, de um lado, há os depoimentos dos migrantes que são suficientes para os estudantes mais iniciantes e, de outro, há o depoimento da brasileira, cuja velocidade de fala oferece maior dificuldade de compreensão e, por isso, é instigante para os alunos mais adiantados. Na sequência, há outro áudio, de uma brasileira de Belo Horizonte, no qual ela fala sobre o que tem perto da sua casa. Esse relato é seguido de duas atividades de compreensão do conteúdo.

PARA PRATICAR
Depois de ter ouvido pessoas falando sobre o local onde moram, é a vez dos alunos trocarem informações sobre o tema, tendo como referência o conteúdo dos áudios. Nessa atividade, há perguntas mais fáceis e outras que exigem maior conhecimento da língua. A interação poderá ser feita em duplas ou em grupo. Professor(a), se você optar pela interação em duplas, uma boa alternativa é propor uma atividade colaborativa entre um aluno que esteja mais adiantado e outro iniciante. Vale observar que alguns estudantes vão precisar do apoio do professor para a construção de determinadas respostas.
PARA LER E ESCREVER

A proposta a seguir envolve a prática do gênero textual envelope de correspondência. A atividade se inicia com o pedido para que os alunos identifiquem sobre o que trata a imagem e como devem preencher o envelope. Para desenvolver a proposta, os estudantes devem imaginar que precisam enviar um documento para uma empresa através dos Correios e completar adequadamente o envelope com as informações solicitadas. Pode haver dificuldade na diferenciação entre “destinatário” e “remetente”.
PARA ESCREVER

Na atividade seguinte, os alunos são convidados a escrever um e-mail a um amigo, contendo as respostas a algumas perguntas. Para isso, será necessário falar sobre o local onde moram e dar sugestões de moradia. A produção de um texto de e-mail exige uma saudação inicial e um encerramento ou uma saudação final, além, é claro, do conteúdo da mensagem. As perguntas apresentadas no e-mail de partida são todas de nível básico e envolvem o tempo presente do modo indicativo.
Como a produção textual costuma ser mais difícil, é fornecido um quadro com vocabulário e expressões de apoio. Isso contribuirá para ampliar o conhecimento sobre o tema e também será uma referência para quem tiver mais dificuldade. A atividade deverá ser realizada em várias etapas: uma primeira versão do texto, a correção pelo professor e a reescrita pelo aluno. Isso contribuirá para que os estudantes reflitam sobre dúvidas de vocabulário e de gramática.

PARA ESQUEMATIZAR
A seção “Para esquematizar” apresenta uma proposta de análise e prática de uso e conjugação dos verbos “ser” e “estar”. Trata-se de uma proposta inicial de sensibilização sobre o uso desses dois verbos, os quais costumam trazer muita dificuldade, tanto para o ensino, quanto para a aprendizagem. Os alunos terão que relacionar os usos desses verbos com os exemplos apresentados.
Como já mencionado, essa é uma atividade inicial e, em outras oportunidades, devem ser ampliados os estudos sobre esses verbos. Certamente, não será em uma única vez que os estudantes compreenderão as especificidades de uso desses verbos, no entanto, é necessário inserir pouco a pouco propostas que levem ao entendimento e à percepção dos seus contextos de uso.
PARA SABER MAIS
Nesta seção, sugere-se uma pesquisa no site dos Correios para que os alunos conheçam o serviço de busca do Código de Endereçamento Postal (CEP), entre outros serviços. Além disso, recomenda-se um site com exercícios referentes aos verbos “ser” e “estar”, que inclui também explicações sobre quando usar esses verbos.
REFERÊNCIAS

KADLETZ, Bruna. Minha terra mora em mim. Florianópolis, Insular, 2019.
SANTOS, J. M. P.; FIGUEIREDO-SILVA, M. C. Ser e Estar em sentenças locativas: observações voltadas à formação de professores de PLE. IN: Revista da ABRALIN, v. 17, n. 1, p. 226-261, 4 abr. 2019. Disponível em: https://revista.abralin.org/index.php/abralin/article/view/492. Acesso em 09/03/2022.
ONDE VOCÊ MORA?
material do professor
PARA COMEÇAR
Leia a frase abaixo e reflita sobre o seu significado.
“Todas as pessoas moram em sua terra, mas a minha mora em mim.” Said As, refugiado palestino no Líbano (Fonte: https://migramundo.com/minha-terra-mora-em-mim-livro-traz-historias-de-pessoas-em-refugio/).
Discuta com seus colegas e professor(a).
a. Em sua opinião, o que o autor da frase quer dizer com “[...] a minha terra mora em mim”? Resposta pessoal.
b. Você se identifica com essa ideia? Resposta pessoal.
PARA OUVIR
1. Vamos ouvir três áudios de pessoas que responderam à pergunta: “Onde você mora?”
Áudio 1:

“Olá, meu nome é Ellie, eu sou da República Democrática do Congo e moro no Brasil há 10 anos. Eu moro em um bairro muito bonito, moro perto da minha igreja, mas é um pouco longe do meu trabalho”.
Áudio 2:
“Oi, meu nome é Marie, eu sou haitiana. Eu (es)tô no Brasil há quase 8 anos, moro em Curitiba e trabalho em um hotel. Eu não moro nem tão perto, nem tão longe do trabalho. Eu gosto do lugar onde eu moro, tem vizinhos simpáticos, alguns fazem barulhos, mas são divertidos. Perto da minha casa tem farmácia, mercado e ponto de ônibus”.

Áudio 3:
“Oi, meu nome é Cler, eu sou brasileira, eu moro em São Paulo, na capital, num bairro da periferia da cidade e, por isso, a minha casa é longe do centro e também da universidade. Eu moro aqui há muito tempo, tenho muitos amigos, conheço os vizinhos. A rua onde eu moro é um pouco agitada, passa muitos carros, mas tem mercado e várias lojas perto”.
Identifique a quem se referem as informações a seguir:
a. Quem é do Haiti? A Marie.
b. Quem é do Brasil? A Cler.
c. Quem é do Congo? O Ellie.
d. Quem mora perto da igreja? O Ellie.
e. Quem mora em uma rua agitada? A Cler.
f. Quem não mora nem perto, nem longe do trabalho? A Marie.
g. Quem mora longe do trabalho? O Ellie.
h. Quem tem muitos amigos na rua? A Cler.
i. Quem tem vizinhos barulhentos? A Marie.
j. Quem mora longe do centro? A Cler.
2. Agora, ouça mais um áudio e veja onde fica o apartamento da Suzana, uma moradora de Belo Horizonte.
“O meu apartamento fica num bairro bem movimentado e tem muitos tipos de comércio. Em frente, tem uma pizzaria, a 50 metros tem um ponto de ônibus, a duas quadras tem um supermercado e na rua de trás tem uma panificadora.”
a. Onde fica o apartamento de Suzana?
( ) num bairro bem calmo
(X ) num bairro bem movimentado
( ) num bairro bem distante do centro
( ) num bairro perto do centro
b. O que tem perto do apartamento da Suzana?
EM FRENTE Uma pizzaria
A 50 METROS Um ponto de ônibus
A DUAS QUADRAS Um supermercado
NA RUA DE TRÁS Uma panificadora (ou padaria)
PARA PRATICAR
Agora responda às seguintes questões: Respostas pessoa is
a. Onde você mora? Em que cidade?
b. Há quanto tempo você mora nessa cidade?
c. Qual é o seu endereço?
d. Você tem vizinhos? Você normalmente conversa com eles?
e. Que pontos negativos e positivos têm o lugar onde você mora?
f. Como é a rua onde você mora?
g. O que tem perto do local onde você mora? Se necessário use o vocabulário de apoio.
Perto da minha casa tem (não tem)... uma farmácia na esquina um supermercado a uma quadra um correio uma papelaria um ponto de ônibus
PARA LER E ESCREVER

uma igreja uma escola muitas casas muitos prédios
A seguir, há uma atividade de leitura e produção de textos. Você deve observar a imagem e responder às perguntas:

a. O que mostra a imagem? Um envelope de correspondência dos Correios.
b. Qual é a empresa brasileira responsável pelo envio e entrega de correspondências? Os Correios.
c. Imagine que você precisa enviar um documento para uma empresa. Verifique qual é o espaço para colocar o seu endereço, qual é o espaço para o endereço da empresa e preencha o envelope. Espera-se que o aluno consiga determinar quem é o remetente e quem é o destinatário.
Endereço da empresa:
Fábrica de tecidos Talhatex S.A.
Rua Fernando A. dos Santos, 346 CEP 86.079-080
Londrina – PR
PARA ESCREVER
Nessa atividade você terá que escrever a resposta para o seguinte e-mail:


Oi amigo(a), como vai?
Eu estou procurando um lugar para morar, você tem alguma sugestão para me dar?
Gostaria de saber: onde você está morando, como é o lugar e o que tem perto.
Um abraço, Jean
VOCABULÁRIO DE APOIO
A minha rua... Expressões para dar opinião
É Longa
É curta
É sem saída
É estreita
É movimentada
É tranquila
Tem asfalto
Não tem asfalto
É arborizada
Não tem árvores
É plana
Tem subida
Tem descida
Não tem calçada e meio-fio
Tem muitos prédios
Tem mais casas do que prédios
Só tem casas
Fica longe do centro da cidade
Fica perto do centro da cidade
Resposta pessoal.
Eu acho que… Minha sugestão é… Eu sugiro que… Uma boa ideia é… Você vai gostar de… Você não vai gostar de...
PARA ESQUEMATIZAR
Agora vamos estudar o uso de dois verbos muito especiais: SER e ESTAR. Para começar, conjugue esses verbos no tempo verbal presente do modo indicativo:
SER ESTAR

EU sou estou
VOCÊ é está
ELE/ELA é está
A GENTE é está
NÓS somos estamos
VOCÊS são estão
ELES/ELAS são estão
Nos áudios que ouvimos e nos textos desta unidade apareceram alguns exemplos com os verbos SER e ESTAR:
a. “A rua onde eu moro é muito tranquila”
b. “Eu estou procurando um lugar para morar”
Quais são essas situações de uso? Identifique o que cada uma das frases acima expressa.
a. Expressa as características frequentes de um lugar.
b. Expressa a localização de um lugar ou algo que está acontecendo em determinado período.
Aqui estão outras situações em que frequentemente são usados os verbos SER e ESTAR:
■ Nacionalidade ou origem;
■ Profissão ou cargo;
■ Tempo cronológico (horas e datas);
■ Características do clima (quando pode ter mudanças em breve ou quando já teve há pouco tempo);
■ Características do clima de modo geral;
■ Estado civil (quando se fala do estado civil atual ou de uma informação jurídica);
■ Estado civil (quando teve mudança);
■ O processo de desenvolvimento de alguma situação ou ação;
■ Características físicas;
■ Características físicas (quando teve mudança);
■ Um estado temporário;
■ Localização de pessoas e de objetivos móveis (que podem se mover ou que podem mudar de lugar);
■ Localização de imóveis.
Relacione essas situações com os exemplos do quadro a seguir. SER
Situações de uso Exemplos
Características do clima de modo geral Em Porto Alegre é frio no inverno.
Tempo cronológico (horas e datas) Hoje é 03 de outubro.
Profissão ou cargo
Nacionalidade ou origem
Características físicas
Estado civil (quando se fala do estado civil atual)
Localização de imóveis
Ela é diretora da empresa.
Pablo é da Venezuela.
O David é alto, mede 1 metro e 90 cm.
Pedro é casado.
Onde é a universidade?
Situações de uso Exemplos
Características do clima (quando pode ter mudanças em breve ou quando já teve há pouco tempo) Como está frio hoje!
Estado civil (quando teve mudança) Maria está separada do marido há 2 anos.
O processo de desenvolvimento de alguma situação ou ação
Características físicas (quando teve mudança)
O Paulo está estudando para entrar na universidade.
Como o Felipe está alto, ele cresceu muito.
Um estado temporário Eu estou com fome.
Localização de pessoas e de objetivos móveis (que podem se mover ou que podem mudar de lugar) Onde está a minha bolsa?

Observação: Quando falamos de localização de imóveis também é muito comum usar o verbo FICAR. Por exemplo: “Onde fica a universidade?”.
PARA SABER MAIS
Para saber mais sobre os serviços oferecidos pelos Correios, visite o site: www.correios.com.br. Observe que, no campo “Busca CEP ou endereço”, você pode encontrar o número do CEP (Código de Endereçamento Postal) das ruas de todas as cidades brasileiras.
Para praticar mais sobre o uso dos verbos “ser” e “estar”, e também para ver mais explicações sobre o assunto, acesse o site: https://idiomabrasil.com/2017/04/17/emprego-dos-verbos-ser-e-estar/.
FICHA TÉCNICA
AUTORA: Jovania Maria Perin Santos
Fotografia: acervo pessoal.
ONDE VOCÊ MORA?
material do aluno

PARA COMEÇAR
Leia a frase abaixo e reflita sobre o seu significado.
“Todas as pessoas moram em sua terra, mas a minha mora em mim.” Said As, refugiado palestino no Líbano (Fonte: https://migramundo.com/minha-terra-mora-em-mim-livro-traz-historias-de-pessoas-em-refugio/).
Discuta com seus colegas e professor(a).
a. Em sua opinião, o que o autor da frase quer dizer com “[...] a minha terra mora em mim”?
b. Você se identifica com essa ideia?
PARA OUVIR
1. Vamos ouvir três áudios de pessoas que responderam à pergunta: “Onde você mora?”
Áudio 1:
“Olá, meu nome é Ellie, eu sou da República Democrática do Congo e moro no Brasil há 10 anos. Eu moro em um bairro muito bonito, moro perto da minha igreja, mas é um pouco longe do meu trabalho”.
Áudio 2:

“Oi, meu nome é Marie, eu sou haitiana. Eu (es)tô no Brasil há quase 8 anos, moro em Curitiba e trabalho em um hotel. Eu não moro nem tão perto, nem tão longe do trabalho. Eu gosto do lugar onde eu moro, tem vizinhos simpáticos, alguns fazem barulhos, mas são divertidos. Perto da minha casa tem farmácia, mercado e ponto de ônibus”.

Áudio 3:
“Oi, meu nome é Cler, eu sou brasileira, eu moro em São Paulo, na capital, num bairro da periferia da cidade e, por isso, a minha casa é longe do centro e também da universidade. Eu moro aqui há muito tempo, tenho muitos amigos, conheço os vizinhos. A rua onde eu moro é um pouco agitada, passa muitos carros, mas tem mercado e várias lojas perto”.
Identifique a quem se referem as informações a seguir:
a. Quem é do Haiti?
b. Quem é do Brasil?
c. Quem é do Congo?
d. Quem mora perto da igreja?
e. Quem mora em uma rua agitada?
f. Quem não mora nem perto, nem longe do trabalho?
g. Quem mora longe do trabalho?
h. Quem tem muitos amigos na rua?
i. Quem tem vizinhos barulhentos?
j. Quem mora longe do centro?
2. Agora, ouça mais um áudio e veja onde fica o apartamento da Suzana, uma moradora de Belo Horizonte.
“O meu apartamento fica num bairro bem movimentado e tem muitos tipos de comércio. Em frente, tem uma pizzaria, a 50 metros tem um ponto de ônibus, a duas quadras tem um supermercado e na rua de trás tem uma panificadora.”
a. Onde fica o apartamento de Suzana?
( ) num bairro bem calmo
( ) num bairro bem movimentado
( ) num bairro bem distante do centro
( ) num bairro perto do centro
b. O que tem perto do apartamento da Suzana?
PARA PRATICAR
Agora responda às seguintes questões:
a. Onde você mora? Em que cidade?
b. Há quanto tempo você mora nessa cidade?
c. Qual é o seu endereço?
d. Você tem vizinhos? Você normalmente conversa com eles?
e. Que pontos negativos e positivos têm o lugar onde você mora?
f. Como é a rua onde você mora?
g. O que tem perto do local onde você mora? Se necessário use o vocabulário de apoio.
Perto da minha casa tem (não tem)...
uma farmácia na esquina um supermercado a uma quadra um correio uma papelaria um ponto de ônibus
PARA LER E ESCREVER

uma igreja uma escola muitas casas muitos prédios
A seguir, há duas atividades de leitura e produção de textos. Na primeira, você deve observar a imagem e responder às perguntas:

a. O que mostra a imagem?
b. Qual é a empresa brasileira responsável pelo envio e entrega de correspondências?
c. Imagine que você precisa enviar um documento para uma empresa. Verifique qual é o espaço para colocar o seu endereço, qual é o espaço para o endereço da empresa e preencha o envelope.
Endereço da empresa:
Fábrica de tecidos Talhatex S.A.
Rua Fernando A. dos Santos, 346 CEP 86.079-080
Londrina – PR
PARA ESCREVER
Nessa atividade você terá que escrever a resposta para o seguinte e-mail:


Oi amigo(a), como vai?
Eu estou procurando um lugar para morar, você tem alguma sugestão para me dar?
Gostaria de saber: onde você está morando, como é o lugar e o que tem perto.
Um abraço, Jean
VOCABULÁRIO DE APOIO
A minha rua... Expressões para dar opinião
É Longa
É curta
É sem saída
É estreita
É movimentada
É tranquila
Tem asfalto
Não tem asfalto
É arborizada
Não tem árvores
É plana
Tem subida
Tem descida
Não tem calçada e meio-fio
Tem muitos prédios
Tem mais casas do que prédios
Só tem casas
Fica longe do centro da cidade
Fica perto do centro da cidade
Eu acho que… Minha sugestão é…
Eu sugiro que… Uma boa ideia é… Você vai gostar de… Você não vai gostar de...
PARA ESQUEMATIZAR
Agora vamos estudar o uso de dois verbos muito especiais: SER e ESTAR. Para começar, conjugue esses verbos no tempo verbal presente do modo indicativo:

ELES/ELAS
Nos áudios que ouvimos e nos textos desta unidade apareceram alguns exemplos com os verbos SER e ESTAR:
a. “A rua onde eu moro é muito tranquila”
b. “Eu estou procurando um lugar para morar”
Quais são essas situações de uso? Identifique o que cada uma das frases acima expressa.
Aqui estão outras situações em que frequentemente são usados os verbos SER e ESTAR:
■ Nacionalidade ou origem;
■ Profissão ou cargo;
■ Tempo cronológico (horas e datas);
■ Características do clima (quando pode ter mudanças em breve ou quando já teve há pouco tempo);
■ Características do clima de modo geral;
■ Estado civil (quando se fala do estado civil atual ou de uma informação jurídica);
■ Estado civil (quando teve mudança);
■ O processo de desenvolvimento de alguma situação ou ação;
■ Características físicas;
■ Características físicas (quando teve mudança);
■ Um estado temporário;
■ Localização de pessoas e de objetivos móveis (que podem se mover ou que podem mudar de lugar);
■ Localização de imóveis.
Relacione essas situações com os exemplos do quadro a seguir.
SER
Situações de uso Exemplos
Em Porto Alegre é frio no inverno.
Hoje é 03 de outubro.
Ela é diretora da empresa.
Pablo é da Venezuela.
O David é alto, mede 1 metro e 90 cm.
Pedro é casado.
Onde é a universidade?
ESTAR
Situações de uso Exemplos

Como está frio hoje!
Maria está separada do marido há 2 anos.
O Paulo está estudando para entrar na universidade.
Como o Felipe está alto, ele cresceu muito.
Eu estou com fome.
Onde está a minha bolsa?
Observação: Quando falamos de localização de imóveis também é muito comum usar o verbo FICAR. Por exemplo: “Onde fica a universidade?”.
PARA SABER MAIS
Para saber mais sobre os serviços oferecidos pelos Correios, visite o site: www.correios.com.br. Observe que, no campo “Busca CEP ou endereço”, você pode encontrar o número do CEP (Código de Endereçamento Postal) das ruas de todas as cidades brasileiras.
Para praticar mais sobre o uso dos verbos “ser” e “estar”, e também para ver mais explicações sobre o assunto, acesse o site: https://idiomabrasil.com/2017/04/17/emprego-dos-verbos-ser-e-estar/.
FICHA TÉCNICA
AUTORA: Jovania Maria Perin Santos
Fotografia: acervo pessoal.
NÍVEL: BÁSICO SUS
AULA: roteiro didático
Situações de uso
■ Compreensão do sistema de saúde brasileiro e uso do SUS em caso de doença.
Expectativa de Aprendizagem
■ Vocabulário sobre partes do corpo, doenças e sintomas; respostas para interrogativas sim/não em português.

Objetivos Gramaticais
■ Revisão de estruturas interrogativas no português e aprendizagem de respostas afirmativas para perguntas de tipo sim/não.
Objetivos Comunicativos
■ Entender como funciona o Sistema Único de Saúde brasileiro e explicar um problema de saúde numa consulta médica.
Autora: Maria Cristina Figueiredo Silva
O tema desta aula é primeiramente a saúde e o sistema de saúde brasileiro, o SUS. Como este é um ponto crucial na vida dos cidadãos, é importante que os alunos tomem conhecimento de como funciona o sistema brasileiro de saúde e como eles podem ter acesso a esse sistema, dado que em seus países de origem nem sempre há um sistema similar. Discutimos, assim, o que é o SUS, como ele funciona, e então nos voltamos para a questão da saúde individual, apresentando o vocabulário relativo às partes do corpo e também relativo a doenças. Dentro desta temática, é possível fazer uma revisão da estrutura das sentenças interrogativas do português e de um tipo específico de resposta, a resposta afirmativa, para questões do tipo sim/não; como neste caso é o verbo no tempo e modo da pergunta que é usado, é possível também fazer uma revisão de verbos irregulares no presente do indicativo.
A aula procura oportunizar as expressões oral e escrita dos alunos, desenvolvendo as habilidades de produção e compreensão (orais e escritas) numa abordagem de gêneros discursivos primários. O ponto gramatical em discussão, as respostas afirmativas para estruturas interrogativas de tipo sim/não, está completamente inserido na temática geral do SUS e de consultas médicas em função de alguma doença ou sintoma.
PARA COMEÇAR
O início de cada aula contém um momento de aquecimento, a fim de desligar os alunos de qualquer atividade externa e trazê-los para o ambiente de aprendizado da língua portuguesa. No caso específico da nossa aula, é interessante começar introduzindo o tema da saúde, perguntando se eles têm boa saúde, se vão ao médico com frequência, se fazem exames de rotina. Depois, sugere-se ao professor perguntar aos alunos se eles sabem como funciona o atendimento médico no Brasil e se eles já ouviram falar do SUS. Se algum deles conhece o termo, pede-se que ele explique; se ninguém conhece o termo, o professor pode dizer o que quer dizer SUS (isto é, Sistema Único de Saúde) e passar ao texto que foi adaptado de dois sites distintos: de https://antigo. saude.gov.br/sistema-unico-de-saude e de https://isac.org.br/voce-sabe-a-diferenca-entre-ubs-e-upa/ (acesso em 13/11/2021).
É aconselhável que o professor leia o texto indicado (e também outros) para que possa responder a dúvidas dos alunos a respeito do material apresentado para esta aula.
O professor deve então estimular os estudantes a ler em voz alta o texto, pequenos trechos para cada um, de modo a poder ajudá-los a atentarem para aspectos sonoros mais desafiadores. Além disso, o professor pode ir esclarecendo eventuais dúvidas sobre vocabulário, embora a primeira atividade do material verse exatamente sobre isso.
A segunda atividade é de interpretação de texto e, em princípio, deve ser simples para os alunos se eles efetivamente seguiram a discussão durante a leitura dos colegas.

PARA ASSISTIR

Como parte integrante da aula, os alunos deverão assistir a um vídeo. Antes de iniciar o vídeo, o material apresenta um vocabulário adicional na forma de exercícios referentes às partes do corpo. O professor pode pedir para que cada estudante faça a atividade relativa a cada uma das partes do corpo ou pode pedir para todos fazerem a atividade completa individualmente para depois corrigir com todos. O importante é, com essa atividade mais lúdica, preparar os alunos para o vídeo que vem a seguir, disponível no link: https://www.youtube.com/watch?v=q0nAzxT5zFA (acesso em 13/11/2021).
O interesse nesse vídeo repousa no fato de que ele trata de uma situação de consulta médica com muito humor, o que torna a discussão mais leve. O vídeo traz também um dialeto diferente para os estudantes da parte sul do país, o que pode ser útil, embora possa oferecer alguma dificuldade. E, como se sabe, o humor é um aspecto de ordem cultural, o que abre a possibilidade de que a tarefa resulte em algo diverso do que se pensava inicialmente. Além disso, o formato das perguntas de tipo QU- (quem, quando, por que, etc.), com a inserção de “que” usadas pela médica do vídeo, pode ser ilustrativo para muitos alunos que ainda não haviam percebido a presença desse tipo de interrogativa no português brasileiro. O exercício de compreensão oral pode ser engraçado,
instrutivo e bastante interessante para que o aluno comece a entender um pouco da cultura brasileira com respeito ao humor.
PARA ESQUEMATIZAR
Respostas afirmativas a interrogativas sim/não do português e revisão de verbos irregulares no presente do indicativo:

Responder afirmativamente a perguntas de tipo sim/não no português é um tanto estranho para um estrangeiro, porque não respondemos normalmente com “sim”, como fazem outras línguas românicas, por exemplo, segundo Martins (2016). Embora se trate de um fenômeno em que há variação no português, em geral só usamos “sim” para exprimir a afirmação discordante, caso em que aparece ao final da resposta a uma pergunta (ou uma declaração) negativa (como o João não vai trabalhar hoje? Vai sim.) e exibe uma entoação particular. Para as respostas afirmativas concordantes, o mais comum é usarmos o verbo conjugado no mesmo tempo e modo usados na pergunta, com a informação de pessoa e número decidida por quem é o sujeito do verbo na resposta da questão. Não há uma descrição precisa desse mecanismo na gramática tradicional, mas na linguística já existem vários textos que discutem essa característica da gramática portuguesa, como é o caso de Oliveira (1999) e Magalhães e Santos (2014), que abordam o fenômeno em relação a outras propriedades presentes na gramática dessa língua no contexto da aquisição da linguagem.
Ora, usar o verbo conjugado para responder a uma pergunta implica saber as conjugações verbais, e por isso este tópico é um excelente momento para rever as conjugações e as formas das diferentes pessoas em verbos regulares e irregulares. A opção da presente unidade é pela revisão dos tempos que implicam a presença de um verbo conjugado no presente do indicativo – o presente simples (como em faz), o progressivo presente (como em está fazendo) e o futuro perifrástico (como em vai fazer). Esses tempos são conhecidos no nível básico de língua e são perfeitamente adequados para o tema da unidade, que inclui uma consulta médica.
Há duas observações, após a pequena revisão do presente do indicativo dos verbos irregulares que foram usados nas perguntas, que merecem aqui um comentário. A primeira diz respeito a doer, um verbo defectivo em português; a segunda diz respeito à pronúncia das diversas formas do verbo estar no português brasileiro coloquial. Possivelmente nenhuma das duas informações é completamente nova para os alunos, mas convém que o professor tenha uma ideia do que dizem as gramáticas tradicionais sobre verbos defectivos; quanto à redução fonológica do verbo estar, o fenômeno está difundido no português brasileiro falado, como atesta Pinheiro (2020).
PARA PRATICAR
Antes de iniciar a atividade de prática propriamente dita, é preciso introduzir vocabulário adequado para que a atividade possa se desenrolar livremente. Assim, a seção começa com uma série de sentenças que mostram como em português relatamos uma dor ou uma doença. Basicamente, trata-se do uso da estrutura gramatical estar com, seguida da doença ou da expressão dor de ou dor na – no caso de dor de barriga e dor na barriga as expressões não são sinônimas e o professor deve chamar a atenção dos alunos para essa diferença.
A atividade em si é um tipo de diálogo dirigido, que simula uma consulta médica. O exercício propõe que o aluno que faz o papel de médico faça um certo conjunto de perguntas plausíveis para o contexto e o aluno que faz o papel de paciente responda usando a estrutura gramatical aprendida (isto é, usando a resposta com o verbo conjugado).
PARA SABER MAIS
Esta seção destina-se a incentivar os alunos a fazerem sua inscrição no SUS, por meio de um pré-cadastro no Portal do Cidadão ou telefonando para o Disque Saúde 136. Embora o sistema de cadastro seja nacional, a UBS (Unidade Básica de Saúde) específica em que o aluno será atendido deve ser encontrada no bairro em que ele mora. O professor deve incentivar o aluno também a buscar essa informação.
REFERÊNCIAS
Cunha, C. e L. Cintra. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1987.
Martins, A. M. O sistema responsivo: padrões de resposta a interrogativas polares e a asserções. In: Martins, A.M. & Carrilho, E. (eds.), Manual de Linguística Portuguesa. Berlin/Boston: De Gruyter, p. 581-609, 2016.
Magalhães, T. & Santos, A.L. As respostas verbais e a frequência de sujeito nulo na aquisição do Português Brasileiro e do Português Europeu. Letras de Hoje, v. 41, nº 1, p. 179-193, 2006
Oliveira, M. de. O parâmetro do sujeito nulo na aquisição da linguagem. Cadernos de Estudos Linguísticos 36, p. 131-146, 1999.
Pinheiro, F. P. Variação e gramaticalização: um estudo sobre a redução fonética do item estar. Revista de Estudos da Linguagem 28, n. 3, p. 1131-1159, 2020.
Rocha Lima, C.H. Gramática normativa da língua portuguesa. Rio de Janeiro: José Olympio, 1972.

SUS AULA: material do professor
PARA COMEÇAR
A ideia é criar um suspense com respeito ao nome da unidade – SUS – e por isso não há nenhuma explicação sobre ele, mas começamos direto fazendo perguntas para os alunos, que devem ser respondidas oralmente apenas. Como se trata de um material para o nível básico, somente os tempos que envolvem formas verbais no presente do indicativo são usados – o presente do indicativo propriamente dito, o progressivo presente e o futuro perifrástico.

■ Você tem boa saúde? Os seus familiares também têm boa saúde? Alguns alunos podem dizer que têm boa saúde, outros que não; do mesmo modo, com respeito aos familiares, é possível que alguns digam que sim e outros que não. Não é o caso de insistir aqui no relato de doenças.
■ Você vai no médico com frequência? Você faz exames de rotina? Aqui se espera alguma diferença nas respostas, talvez mais ligadas a gênero, pois é sabido que em geral as mulheres são mais atentas à saúde e fazem exames periodicamente. Mas convém guardar a mente aberta para sermos agradavelmente surpreendidos.
■ Você sabe como funciona o atendimento médico no Brasil? Novamente, alguns podem saber, outros não. É possível que alguns já falem a respeito do SUS, caso em que a próxima questão pode ser englobada aqui.
■ Você sabe o que quer dizer SUS? Se algum aluno já sabe, pedir para que ele explique a sigla. Se ninguém souber, a explicação está no título do texto que vem a seguir. O professor pode escolher não apresentar o material nessa primeira parte de “esquenta” e só agora fornecer o material aos alunos.

PARA LER
A sugestão é ler em voz alta, o que é um excelente exercício para os alunos e permite ao professor ajudar com a pronúncia, a entonação e o vocabulário.
O que é o Sistema Único de Saúde (SUS)?
O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo, abrangendo desde o simples atendimento para avaliação da pressão arterial, por meio da Atenção Primária, até o transplante de órgãos, e garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país. Com a sua criação, o SUS proporciona o acesso universal ao sistema público de saúde, sem discriminação. [...]
O SUS se organiza em dois tipos diferentes de atendimento: a Unidade Básica de Saúde (UBS) é a porta de entrada do SUS e faz atendimento de rotina. Os tipos de atendimentos são: pré-natal (para mulheres grávidas), controle de diabetes, hipertensão e tuberculose. Por outro lado, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) é o serviço de urgência e emergência, oferecido 24 horas por dia, 7 dias por semana e diretamente ligado com o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, um serviço de ambulância gratuita que pode ser acionado pelo telefone 192). Os tipos de atendimento que as UPAs fazem são: febre alta, pressão alta, fraturas, derrames, cortes e infartos.
São princípios do SUS:
Universalização: a saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado assegurar este direito; o acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas as pessoas, independentemente de sexo, raça, ocupação ou outras características sociais ou pessoais.
Equidade: o objetivo desse princípio é diminuir desigualdades. Todas as pessoas possuem direito aos serviços, mas as pessoas não são iguais e, por isso, têm necessidades distintas. Em outras palavras, equidade significa tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência é maior.
Integralidade: este princípio considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades. Para isso, é importante a integração de ações, incluindo a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação.
(Adaptado de https://antigo.saude.gov.br/sistema-unico-de-saude e de https://isac. org.br/voce-sabe-a-diferenca-entre-ubs-e-upa/ )

Observe essas palavras grifadas no texto e associe as palavras à sua definição colocando a letra correspondente na coluna livre:
VOCÁBULO SIGNIFICADO
A abrangendo C Doença caracterizada pela alta taxa de açúcar no sangue
B proporciona F Ataque cardíaco (o fluxo de sangue no coração é bloqueado)
C diabetes A Envolvendo, abarcando D hipertensão E Quebra ou ruptura de algum osso
E fratura B Oferece, promove, propicia
F infarto G Empregando mais recursos ou tempo ou esforço
G investindo D Também chamada de “pressão alta”, é uma doença crônica caracterizada pelo nível elevado da pressão sanguínea nas artérias.
Esse primeiro exercício é simples e requer apenas que, na coluna livre, o aluno anote a letra correspondente ao vocábulo que está sendo definido ou explicado. Durante a leitura, possivelmente o professor teve que esclarecer o significado de outros termos, que podem ser anotados aqui também.
Responda se as afirmações são verdadeiras (V) ou falsas (F), de acordo com o texto. Justifique a sua escolha.
1. O SUS é um sistema de saúde universal, isto é, qualquer pessoa pode ter acesso a ele.
(X ) Verdadeiro ( ) Falso
Justificativa: No final do 1º parágrafo se afirma que “o SUS proporciona o acesso universal ao sistema público de saúde, sem discriminação”
2. O princípio da equidade diz que todos são iguais e devem por isso ser tratados com igualdade.
( ) Verdadeiro (X ) Falso
Justificativa: No item que trata da Equidade do sistema, afirma-se que “equidade significa tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência é maior”. Esse não é um conceito simples e exige explicação detalhada do professor.
3. O serviço de Atenção Primária garante transplante de órgãos.
( ) Verdadeiro (X ) Falso
Justificativa: Aqui é só questão de leitura atenta: o texto diz que o SUS tem “desde o simples atendimento para avaliação da pressão arterial, por meio da Atenção Primária, até o transplante de órgãos”.
4. O SUS é um sistema completamente gratuito.
(X ) Verdadeiro ( ) Falso
Justificativa: No primeiro parágrafo se diz literalmente que o SUS tem “acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país”.
5. A UBS é um lugar onde vamos em emergência.
( ) Verdadeiro (X ) Falso
Justificativa: No 2º parágrafo se diz que “a Unidade Básica de Saúde (UBS) é a porta de entrada do SUS e faz atendimento de rotina. Os tipos de atendimentos são: pré-natal (para mulheres grávidas), controle de diabetes, hipertensão e tuberculose”. Talvez o professor possa esclarecer que a UBS que atende cada um de nós é determinada pelo nosso endereço.
6. A UPA atende casos de pessoas removidas pelo SAMU.
(X ) Verdadeiro ( ) Falso
Justificativa: No 2º parágrafo se diz que “a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) é o serviço de urgência e emergência, oferecido 24 horas por dia, 7 dias por semana e diretamente ligado com o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, um serviço de ambulância gratuita que pode ser acionado pelo telefone 192)”. Talvez o professor possa aqui esclarecer que qualquer UPA recebe pacientes em urgência, independentemente de onde eles morem e onde esteja a UPA.
PARTES DO CORPO
Uma tarefa simples de ligar os nomes às partes do corpo (a única dificuldade é o problema de “cabeça”, que é o todo, não apenas o cabelo, como está parecendo aqui).
Ligue as palavras com os lugares do corpo que elas nomeiam, como nos exemplos:

PARA ASSISTIR

Ida ao médico, assista, com atenção, o vídeo: (https://www.youtube.com/watch?v=q0nAzxT5zFA)
(O vídeo é uma simulação de uma consulta médica, com efeito cômico; contudo, como o humor é uma coisa bastante cultural, convém o professor avaliar se a atividade de fato vai conduzir seus alunos ao riso. Em tempo: o vídeo usa interrogativas com a forma “o que que”, e por isso nas perguntas abaixo essas formas serão usadas.)
Vamos nos dividir agora em dois grupos para responder oralmente as questões a seguir – o grupo 1 responde às questões ímpares e o grupo 2 responde às questões pares:
1. Qual é o nome da médica? Dra. Raiane.
2. O que que a médica pergunta primeiro para a paciente? “Tudo bem com a senhora?”.
3. O que Dona Jurema responde para a médica? “Tudo bem não: se eu estivesse bem eu não ‘tava aqui”
4. Qual que é a segunda pergunta que a médica faz para a Dona Jurema? “D ona Jurema, o que que a senhora tem?”.
5. O que que Dona Jurema responde? “Eu tenho uma casa, um cachorro, um terreno pequenininho mas é meu, a minha casa tem 3 quartos, tem televisão, ...
6. O que que Dona Jurema está sentindo? “U ma dor nessa perna” (é a perna direita).
7. Qual é o diagnóstico da médica? Pa ra a médica, a dor na perna só pode ser consequência da idade.
8. Por que Dona Jurema contesta o diagnóstico da médica? “A outra perna (a esquerda) tem a mesma idade e não dói!”.
PARA ESQUEMATIZAR
RESPONDER PERGUNTAS SIM/NÃO EM PORTUGUÊS
Estamos aqui frente a um tópico gramatical em que não se trata de certo ou errado, mas é antes uma questão do que é mais idiomático em português, ou seja, não está errado responder afirmativamente a uma interrogativa sim/não com “sim”, mas não é assim que os falantes da língua normalmente respondem.

Você já conhece certas palavras que usamos para fazer perguntas. Vamos recordar esse conteúdo:
Convém lembrar que na língua padrão se fala “qual é o seu nome?” ou “como você está?”, mas numa boa parte dos dialetos do português brasileiro a forma mais corrente é “qual que é?”, “onde que ele (es)tá?”, “como que você (es)tá?”, “o que que vocês (es)tão fazendo?”, etc. A opção será então usar a notação “(que)” para dizer que “que” é opcional nesses contextos.
Qual (que) é o seu nome? Quantos anos (que) você tem? Onde (que) você mora?
Quando você vai no médico, algumas outras perguntas são bem comuns:
O que (que) você têm? O que (que) você está sentindo?
Desde quando (que) você está com esses sintomas?
Além desse tipo de perguntas, existe outro, que são perguntas com resposta do tipo sim/não, como:
Você está com dor de cabeça? Sim, eu estou com dor de cabeça. Não, eu estou com dor de estômago.
Em português, é muito comum responder afirmativamente a perguntas desse tipo com o verbo conjugado no mesmo tempo e modo do verbo da pergunta, em vez de usar sim:
Você está com dor de cabeça? Estou. [Sim, eu estou com dor de cabeça]
Ela está com tosse? Está. [Sim, ela está com tosse]
As crianças estão resfriadas? Estão. [Sim, elas estão resfriadas]
Eu estou com febre, doutor? Está. [Sim, você está com febre]
Qualquer verbo que estiver na pergunta pode ser usado na resposta: (o professor pode inventar mais perguntas!)
Você sente dor no corpo? Sinto. [Sim, eu sinto dor no corpo]
Dói o seu joelho? Dói. [Sim, o meu joelho dói]
Ela tem outros sintomas? Tem. [Sim, ela tem outros sintomas]
Vale a pena então fazer uma revisão do presente do indicativo dos verbos que estamos usando: (o suposto é que os alunos conheçam a conjugação dos verbos regulares e por isso apenas verbos irregulares estão sendo usados aqui.)
ESTAR TER SENTIR DOER
EU estou tenho sinto -
VOCÊ/ELE está tem sente dói
NÓS estamos temos sentimos -
VOCÊS/ELES estão têm sentem doem
Duas observações:
1. O verbo “doer” é um verbo defectivo, pois só se conjuga na 3ª pessoa do singular ou plural.
2. As conjugações do verbo “estar” são pronunciadas mais comumente como: eu tô você tá nós tamo(s) eles tão

PARA PRATICAR
Antes de começar, vamos ver um vocabulário especial para a situação de visita ao médico:
Aqui é oferecido um vocabulário preparatório para a atividade que vem a seguir, quando a dificuldade será dizer para o médico o que o doente está sentindo. Há um modo de dizer isso em português com o qual o aluno deve se familiarizar, que é basicamente com o uso da estrutura gramatical “estar com” – observe-se a diferença entre “estar com dor de barriga” X “estar com dor na barriga”.
Ela está com dor de barriga.
Ela está com dor de cabeça.
Ela está com dor de dente.
Ela está com dor de garganta.
Ela está com dor no peito.
Ela está com dor no braço.
Ela está com dor na barriga.
Ela está com febre.
Ela está com tosse.
Ela está com gripe. Ela está com ânsia de vômito.
Ela está resfriada.
Ela está gripada.
Você é um médico (uma médica) e o seu (a sua) colega é um (uma) paciente que vai a uma UBS para uma consulta médica. Você deve perguntar:
1. O nome dele/dela
2. O nome da mãe dele/dela
3. O que ele/ela está sentindo (aq ui entra a parte da imaginação dos alunos!)
4. Quanto tempo faz que ele/ela está com esses sintomas
5. Se tem alguém na família com os mesmos sintomas (e ssa é uma pergunta sim/não)
6. Se os sintomas são fortes o tempo todo (e ssa também)
7. Se ele/ela toma algum remédio habitualmente (e ssa também)
Agora o seu (a sua) colega é o médico (a médica) e você é o (a) paciente. Você deve lembrar de usar o verbo como resposta afirmativa para as perguntas que ele/ela está fazendo para você!
PARA SABER MAIS
Como fazer a sua inscrição no SUS? (https://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/cartao-nacional-de-saude)
(O professor deve incentivar o aluno também a se cadastrar na UBS do bairro, entrando no site da prefeitura da cidade onde ele mora.)
FICHA TÉCNICA
AUTORA: Maria Cristina Figueiredo Silva
Texto: autoria própria. Referências:
https://antigo.saude.gov.br/sistema-unico-de-saude
https://isac.org.br/voce-sabe-a-diferenca-entre-ubs-e-upa/

Ilustração: Leticia Lippe
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=q0nAzxT5zFA
material do aluno


PARA COMEÇAR
■ Você tem boa saúde? Os seus familiares também têm boa saúde?
■ Você vai no médico com frequência? Você faz exames de rotina?
■ Você sabe como funciona o atendimento médico no Brasil?
■ Você sabe o que quer dizer SUS?

PARA LER
O que é o Sistema Único de Saúde (SUS)?
O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo, abrangendo desde o simples atendimento para avaliação da pressão arterial, por meio da Atenção Primária, até o transplante de órgãos, e garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país. Com a sua criação, o SUS proporciona o acesso universal ao sistema público de saúde, sem discriminação. [...]
O SUS se organiza em dois tipos diferentes de atendimento: a Unidade Básica de Saúde (UBS) é a porta de entrada do SUS e faz atendimento de rotina. Os tipos de atendimentos são: pré-natal (para mulheres grávidas), controle de diabetes, hipertensão e tuberculose. Por outro lado, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) é o serviço de urgência e emergência, oferecido 24 horas por dia, 7 dias por semana e diretamente ligado com o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, um serviço de ambulância gratuita que pode ser acionado pelo telefone 192). Os tipos de atendimento que as UPAs fazem são: febre alta, pressão alta, fraturas, derrames, cortes e infartos.
São princípios do SUS:
Universalização: a saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado assegurar este direito; o acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas as pessoas, independentemente de sexo, raça, ocupação ou outras características sociais ou pessoais.
Equidade: o objetivo desse princípio é diminuir desigualdades. Todas as pessoas possuem direito aos serviços, mas as pessoas não são iguais e, por isso, têm necessidades distintas. Em outras palavras, equidade significa tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência é maior.
Integralidade: este princípio considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades. Para isso, é importante a integração de ações, incluindo a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação.
(Adaptado de https://antigo.saude.gov.br/sistema-unico-de-saude e de https://isac. org.br/voce-sabe-a-diferenca-entre-ubs-e-upa/ )
Observe as palavras grifadas no texto e associe as palavras à sua definição colocando a letra correspondente na coluna livre:
VOCÁBULO SIGNIFICADO
A abrangendo
B proporciona
C diabetes
D hipertensão
E fratura
F infarto
Doença caracterizada pela alta taxa de açúcar no sangue
Ataque cardíaco (o fluxo de sangue no coração é bloqueado)
Envolvendo, abarcando
Quebra ou ruptura de algum osso
Oferece, promove, propicia
Empregando mais recursos ou tempo ou esforço
G investindo
Também chamada de “pressão alta”, é uma doença crônica caracterizada pelo nível elevado da pressão sanguínea nas artérias.
Responda se as afirmações são verdadeiras (V) ou falsas (F), de acordo com o texto. Justifique a sua escolha.
1. O SUS é um sistema de saúde universal, isto é, qualquer pessoa pode ter acesso a ele.
( ) Verdadeiro ( ) Falso
Justificativa:
2. O princípio da equidade diz que todos são iguais e devem por isso ser tratados com igualdade.
( ) Verdadeiro ( ) Falso
Justificativa:
3. O serviço de Atenção Primária garante transplante de órgãos.
( ) Verdadeiro ( ) Falso
Justificativa:
4. O SUS é um sistema completamente gratuito.
( ) Verdadeiro ( ) Falso
Justificativa:
5. A UBS é um lugar onde vamos em emergência.
( ) Verdadeiro ( ) Falso
Justificativa:
6. A UPA atende casos de pessoas removidas pelo SAMU. ( ) Verdadeiro ( ) Falso

Justificativa:
PARTES DO CORPO
Ligue as palavras com os lugares do corpo que elas nomeiam, como nos exemplos:
PARA ASSISTIR

Ida ao médico, assista, com atenção, o vídeo: (https://www.youtube.com/watch?v=q0nAzxT5zFA). Vamos nos dividir agora em dois grupos para responder oralmente as questões a seguir – o grupo 1 responde às questões ímpares e o grupo 2 responde às questões pares:
1. Qual é o nome da médica?
2. O que que a médica pergunta primeiro para a paciente?
3. O que Dona Jurema responde para a médica?
4. Qual que é a segunda pergunta que a médica faz para a Dona Jurema?
5. O que que Dona Jurema responde?
6. O que que Dona Jurema está sentindo?
7. Qual é o diagnóstico da médica?
8. Por que Dona Jurema contesta o diagnóstico da médica?
PARA ESQUEMATIZAR
RESPONDER PERGUNTAS SIM/NÃO EM PORTUGUÊS
Você já conhece certas palavras que usamos para fazer perguntas. Vamos recordar esse conteúdo:
Qual (que) é o seu nome? Quantos anos (que) você tem?

Onde (que) você mora?
Quando você vai no médico, algumas outras perguntas são bem comuns:
O que (que) você têm? O que (que) você está sentindo?
Desde quando (que) você está com esses sintomas?
Além desse tipo de perguntas, existe outro, que são perguntas com resposta do tipo sim/não, como:
Você está com dor de cabeça? Sim, eu estou com dor de cabeça. Não, eu estou com dor de estômago.
Em português, é muito comum responder afirmativamente a perguntas desse tipo com o verbo conjugado no mesmo tempo e modo do verbo da pergunta, em vez de usar sim:
Você está com dor de cabeça? Estou. [Sim, eu estou com dor de cabeça]
Ela está com tosse? Está. [Sim, ela está com tosse]
As crianças estão resfriadas? Estão. [Sim, elas estão resfriadas]
Eu estou com febre, doutor? Está. [Sim, você está com febre]
Qualquer verbo que estiver na pergunta pode ser usado na resposta:
Você sente dor no corpo? Sinto. [Sim, eu sinto dor no corpo]
Dói o seu joelho? Dói. [Sim, o meu joelho dói]
Ela tem outros sintomas? Tem. [Sim, ela tem outros sintomas]
Vale a pena então fazer uma revisão do presente do indicativo dos verbos que estamos usando: ESTAR TER SENTIR DOER
EU estou tenho sinto -
VOCÊ/ELE está tem sente dói
NÓS estamos temos sentimos -
VOCÊS/ELES estão têm sentem doem
Duas observações:
1. O verbo “doer” é um verbo defectivo, pois só se conjuga na 3ª pessoa do singular ou plural.
2. As conjugações do verbo “estar” são pronunciadas mais comumente como: eu tô você tá nós tamo(s) eles tão

PARA PRATICAR
Antes de começar, vamos ver um vocabulário especial para a situação de visita ao médico:
Ela está com dor de barriga.
Ela está com dor de cabeça.
Ela está com dor de dente.
Ela está com dor de garganta.
Ela está com dor no peito.
Ela está com dor no braço.
Ela está com dor na barriga.
Ela está com febre.
Ela está com tosse.
Ela está com gripe.
Ela está com ânsia de vômito.
Ela está resfriada.
Ela está gripada.
Você é um médico (uma médica) e o seu (a sua) colega é um (uma) paciente que vai a uma UBS para uma consulta médica. Você deve perguntar:
1. O nome dele/dela
2. O nome da mãe dele/dela
3. O que ele/ela está sentindo
4. Quanto tempo faz que ele/ela está com esses sintomas
5. Se tem alguém na família com os mesmos sintomas
6. Se os sintomas são fortes o tempo todo
7. Se ele/ela toma algum remédio habitualmente
Agora o seu (a sua) colega é o médico (a médica) e você é o (a) paciente. Você deve lembrar de usar o verbo como resposta afirmativa para as perguntas que ele/ela está fazendo para você!
PARA SABER MAIS
Como fazer a sua inscrição no SUS? (https://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/cartao-nacional-de-saude)
FICHA TÉCNICA
AUTORA: Maria Cristina Figueiredo Silva
Texto: autoria própria. Referências:
https://antigo.saude.gov.br/sistema-unico-de-saude
https://isac.org.br/voce-sabe-a-diferenca-entre-ubs-e-upa/

Ilustração: Leticia Lippe
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=q0nAzxT5zFA
ANOTAÇÕES


AULA:
É SÓ UMA PICADINHA!
roteiro didático
Situações de uso
■ Utilização do serviço público;
■ Local de encontro, evento.
Expectativa de Aprendizagem
■ Compreensão dos usos dos diminutivos pelas situações de contexto e entonação da voz;
■ Conhecer as diferentes manifestações de afeto reconhecidas na sociedade brasileira.
Autora: Emanuelly Perlas Condori
Caro educador, essa aula tem como objetivo trabalhar de forma contextualizada a temática da doação por meio dos diminutivos. Assim, os alunos, ao se depararem no dia a dia com tais construções, em situação de contexto e com diferentes entonações, não só as compreenderão como também serão capazes de usá-las.
Para justificar a escolha desse tema, recorre-se ao artigo “O sistema de avaliatividade e os recursos para gradação em Língua portuguesa: questões terminológicas e de instanciação” (2009), de autoria de Orlando Vian Jr. Nesse texto, sustenta-se que a língua oferece todo um potencial para “expressarmos pontos de vista positivos ou negativos, para graduarmos a força ou o foco do que expressamos”. Os diminutivos, em dado contexto e em dadas relações entre os participantes da interação comunicativa, poderão assumir conotações de afeto, ironia e tantos outros sentimentos expressos por meio da língua.

PARA COMEÇAR
Na seção “Para começar”, inicia-se através do vídeo “Doação de sangue Hemepar”, para introduzir o tema que será trabalhado. Esse eixo temático permitirá que se trabalhe com os diminutivos em situação de uso, ou seja, no contexto de um posto de saúde. O objetivo é que tal elemento gramatical se torne conhecido dos alunos por sua função, que é a de corresponder às intenções do falante.
PARA LER

A proposta dessa parte da aula consiste em trabalhar de fato com os diminutivos. Para isso, usamos uma campanha publicitária na qual aparece pela primeira vez a doação de sangue. Por meio das questões, pretende-se que os alunos aprendam a identificar algumas interpretações do uso do diminutivo, como o sentido positivo ou negativo, a atribuição de tamanho e a motivação por trás da escolha dos publicitários de usar a palavra “rolezinho” em vez de “rolê”, que é a de evidenciar a rapidez do processo de doar e, com isso, incentivar a prática de doação. Tais atribuições de usos do diminutivo são trabalhadas nas questões 3, 4 e 5. Além disso, há uma breve apresentação de outros tipos de usos e intenções manifestadas nos diminutivos, como: carinho/afeição/cuidado; atenuação/ amenização e ironia.
PARA ESQUEMATIZAR
Aqui há a ampliação do assunto dos diminutivos quanto à estrutura: uso do sufixo -inho (os, a, as) após outras classes de palavras (substantivos, adjetivos, verbos, advérbios) no português brasileiro. A esquematização se dá pela atividade de associação entre as palavras em diminutivo com as imagens. Procurou-se escolher palavras com sons parecidos e sentidos diferentes.
PARA OUVIR


Em “Para ouvir”, recupera-se todo o conteúdo trabalhado na aula, por meio da escuta e compreensão do diálogo entre a enfermeira e o doador de sangue. É pela interação entre os participantes da conversa que se compreendem os diferentes usos dos diminutivos, uma vez que suas intenções se manifestam por meio desta estrutura e até mesmo da ênfase que se dá ao pronunciar essas palavras.

PARA PRATICAR
Aqui o aluno colocará em prática o que aprendeu ao observar no seu dia a dia as diversas produções dos diminutivos. O estudante deverá listar exemplos que ouviu ou viu, com base nos sentidos a eles atribuídos, relacionando-os com os trabalhados durante a aula (atenuar/amenizar, ironia, carinho/afeição/cuidado e tamanho).
REFERÊNCIAS
VIAN JR., Orlando. O sistema de avaliatividade e os recursos para gradação em Língua Portuguesa: questões terminológicas e de instanciação. In: DELTA: documentação de estudos em lingüística teórica e aplicada [online]. 2009, v. 25, n. 1, p. 99-129. Disponível em: <https:// revistas.pucsp.br/index.php/delta/article/view/28207/19812>. Acesso em: 9 nov. 2021.

É SÓ UMA PICADINHA!
PARA COMEÇAR
Você já ouviu falar em gentileza gera gentileza, solidariedade e empatia? Essas palavras têm algo em comum, sabe o que é? O que há de comum é que elas têm como base o compartilhamento de algo com alguém. Pode ser de natureza financeira ou até mesmo dedicar tempo para outra pessoa. Existem muitas formas de dar sem receber nada em troca. Isso pode também se chamar de doação.
DOAR: oferecer; dar de forma gratuita a alguém.
Veja uma maneira de praticar a doação: https://www.youtube.com/watch?v=Ho5meN03yis Agora, converse com seus colegas sobre as seguintes questões:
1. O vídeo fala sobre doação? Qual é o tipo de doação?
Doação de sangue.
2. Segundo o vídeo, para doar uma pessoa precisa: Marque a alternativa correta com um X.
( ) Estar sem saúde
( ) Estar cansado
( ) Estar pouco alimentado
(X ) Pesar no mínimo 50 kg
( ) Ter entre 0 e 10 anos
( ) Estar com pouca saúde
(X ) Estar descansado
(X ) Estar bem alimentado
( ) Pesar menos de 50 kg
(X ) Ter entre 16 e 67 anos
3. No seu país existe esse tipo de doação?
Resposta pessoal.
(X ) Estar com boa saúde
( ) Estar exausto


( ) Não estar alimentado
( ) Pesar 50 kg
( ) Ter entre 15 e 24 anos
4. Você já doou sangue alguma vez? Doeu? Sentiu medo? Resposta pessoal.
5. Que outros tipos de campanha de doação você já viu aqui no Brasil? Resposta pessoal.
PARA LER

Uma das formas de fazer com que as pessoas pratiquem esse tipo de doação é por meio de campanhas. Veja esta campanha publicitária:
ROLEZINHO: diminutivo de rolê ou rolé; em linguagem informal, significa “pequeno passeio”. Atualmente, refere-se a encontros simultâneos de centenas de pessoas em locais como praças, parques públicos e shopping centers, organizados via internet.
1. Sobre o que trata a campanha publicitária?
A campanha publicitária fala sobre doação de sangue e de sua importância ao salvar vidas. No caso, a doação é o motivo do encontro.

2. De acordo com o cartaz, onde se deve ir para fazer a doação?
A doação é feita na rua Frei Caneca, número 9.
3. A campanha publicitária faz uso do diminutivo da palavra “rolê”. Essa palavra ganha sentido positivo ou negativo em relação ao contexto em que foi utilizada? Explique.
A palavra “rolê” carrega sentido positivo, porque o encontro tem como objetivo a doação de sa ngue, ou seja, salvar vidas.
4. O significado dado a “rolezinho” foi o de “pequeno passeio”. Neste caso, a palavra “pequeno” pode ser substituída por:
a. ( ) longo (“rolezinho” significa: longo passeio).
b. (X ) curto. (“rolezinho” significa: curto passeio).

5. Existe diferença de sentido entre as palavras “rolê” e “rolezinho”? Por que os publicitários escolheram a forma “rolezinho”?
Si m, existe diferença de sentido: “rolê” significa passeio e “rolezinho” é um passeio curto, rá pido. Esse motivo influenciou a escolha dos publicitários, que quiseram incentivar a prática da doação evidenciando a rapidez do processo de doar.
PARA ESQUEMATIZAR
O diminutivo pode trazer novos significados, como vimos no exemplo do rolezinho! Vejamos outros usos do diminutivo para: a palavra “cama”:
Tamanho
Exemplo: Alguém vê uma cama pequena e diz: Olha mãe! Uma caminha!!!

Carinho/afeição/cuidado
Exemplo: Alguém sente saudades de algo e fala: Que saudade da minha caminha!
Atenuar/amenizar
Exemplo: Quando a cama não corresponde às expectativas, se diz: Dá para dormir nesta caminha...
Ironia
Exemplo: A mãe vê que o filho vai sair de casa sem arrumar a cama bagunçada e diz: Que caminha, hein? Não vai arrumar, não?
Como vimos, a palavra “rolê” somada com “-inho” formou uma nova palavra, ou seja, ganhou um novo sentido. No Brasil, existem diversas maneiras de usar o diminutivo!

Vejamos:
Pode com substantivos: picada - picadinha; Ana - Aninha etc.
Pode com adjetivos: doente - doentinho etc.
Pode com advérbios? Pode! agora - agorinha etc.
Pode com verbos? Pode!! Ele está dormindinho, etc.
Pode com...? Pode!!!


Muitos usos, né?! Na sua língua se usa o diminutivo? Em que situações? Com que objetivos? Compartilhe com a turma.
Fofinho, legalzinho, bonitinho. Você já ouviu essas palavras no português brasileiro?
Relacione outras palavras em diminutivo com as imagens:


PARA PRATICAR

Agora, vamos ouvir um diálogo entre uma enfermeira e um doador de sangue. Você consegue perceber os diferentes sentidos das palavras diminutivas em diferentes contextos?
https://www.canva.com/design/DAErWM-TVHg/j5ITr8YO7syEa_7CqaCmUA/ watch?utm_content=DAErWM-TVHg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

Enfermeira: — Você tem medo de agulha?
Doador: — Tenho medo.
Enfermeira: — É só uma picadinha!!! Não vai doer nada... O seu braço vai ficar um pouco doloridinho, mas vai passar.
Doador: — Você só está dizendo isso para me acalmar. Tentando diminuir a dor... Mas, vai doer, sim!!!
O sentido é de:
(X ) Atenuar ou amenizar o sentido
( ) Ironia
( ) Carinho, afeição, cuidado
( ) Tamanho pequeno
Enfermeira: — Olha a agulha é bem pequena, uma agulhinha.
Doador: — É pequena, mas dói muito.
O sentido é de:
( ) Atenuar ou amenizar o sentido
( ) Ironia
( ) Carinho, afeição, cuidado
(X ) Tamanho pequeno
Enfermeira: — É para o bem do seu amorzinho. Quanto tempo faz que vocês são casados?
Doador: — Faz dez anos que sou casado com a minha esposa.
Enfermeira: — E qual é o apelido carinhoso de vocês?
Doador: — É amorzinho, benzinho, meu pedacinho do céu.
Enfermeira: — Que fofinhos!!!
O sentido é de:
( ) Atenuar ou amenizar o sentido
( ) Ironia
Doador: — Ai, Ai...!!! Ui...!!!
Enfermeira: — Pronto, acabou!
Doador: — Que picadinha, hein?!
Enfermeira: — Doeu?
Doador: — Muito.
Enfermeira: — Ah, você foi irônico!
O sentido é de:
( ) Atenuar ou amenizar o sentido
(X ) Ironia
(X ) Carinho, afeição, cuidado
( ) Tamanho pequeno
( ) Carinho, afeição, cuidado
( ) Tamanho pequeno
PARA SABER MAIS
Para expandir o conteúdo estudado, acesse o material de apoio. Lá você verá outras situações de contexto para o uso dos diminutivos.
Os Sentidos do Diminutivo | Vivian Rio
https://vivianrio.wordpress.com/2010/03/09/os-sentidos-do-diminutivo/
FICHA TÉCNICA
AUTORA: Emanuelly Perlas Condori
https://www.youtube.com/watch?v=Ho5meN03yis
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fpt%2Fphotos%2Fidoso-longevidade-senhora-idosa-3400597%2F&psig=AOvVaw22ldSYyVxMTSpAymf3d-zR&ust=1630842460229000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwib373dn-XyAhU8A7kGHWbyBJQQr4kDegUIARDnAQ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fradiopeaobrasil.com.br%2Fdesemprego-aumenta-e-atinge-140-milhoes-de-pessoas%2F&psig=AOvVaw3x68SdPLLLPRFviqT7mC9p&ust=1630842156356000&source=images&cd=vfe&ved=0CAwQjhxqFwoTCJCW9tme5fICFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fpt%2Fphotos%2Fc%25C3%25A9dulas-dinheiro-real-nota-1195084%2F&psig=AOvVaw3-GILgirrEn2RIg3ON3gc-&ust=1630842638918000&source=images&cd=vfe&ved=0CAwQjhxqFwoTCIDcu--h5fICFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pxfuel.com%2Fpt%2Ffree-photo-ocikv&psig=AOvVaw33FmJu_pgcU0osG8JaVXhX&ust=1630842844290000&source=images&cd=vfe&ved=0CAwQjhxqFwoTCLjx1Nmh5fICFQAAAAAdAAAAABAD

Vela Queimando Acesa Luz De - Foto gratuita no Pixabay
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpublicdomainvectors.org%2Fpt%2Fvetorial-gratis%2FFilha-e-m%25C3%25A3e-vintage%2F72523.html&psig=AOvVaw1V7jry0wCdosCCY-xPHDUJ&ust=1630843192309000&source=images&cd=vfe&ved=0CAwQjhxqFwoTCLiJ9Mmi5fICFQAAAAAdAAAAABAR
https://www.comvest.unicamp.br/vest2015/F1/f12015QW.pdf
https://www.canva.com/design/DAEqwR6nb_E/qw-wUwWoxDAHfNI5vRjqRA/ view?utm_content=DAEqwR6nb_E&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
É SÓ UMA PICADINHA!
PARA COMEÇAR
Você já ouviu falar em gentileza gera gentileza, solidariedade e empatia? Essas palavras têm algo em comum, sabe o que é? O que há de comum é que elas têm como base o compartilhamento de algo com alguém. Pode ser de natureza financeira ou até mesmo dedicar tempo para outra pessoa. Existem muitas formas de dar sem receber nada em troca. Isso pode também se chamar de doação.
DOAR: oferecer; dar de forma gratuita a alguém.
Veja uma maneira de praticar a doação: https://www.youtube.com/watch?v=Ho5meN03yis Agora, converse com seus colegas sobre as seguintes questões:
1. O vídeo fala sobre doação? Qual é o tipo de doação?
2. Segundo o vídeo: para doar, uma pessoa precisa estar com ? Marque a alternativa correta com um X.
( ) Nenhuma saúde
( ) Estar cansado
( ) Pouco alimentado
( ) Pesar no mínimo 50 kg
( ) Ter entre 0 e 10 anos
( ) Pouca saúde

( ) Estar descansado
( ) Bem alimentado
( ) Pesar menos de 50 kg
( ) Ter entre 16 e 67 anos
3. No seu país existe esse tipo de doação?
( ) Boa saúde
( ) Estar exausto

( ) Nada alimentado
( ) Pesar 50 kg
( ) Ter entre 15 e 24 anos
4. Você já doou sangue alguma vez? Doeu? Sentiu medo?

5. Que outros tipos de campanha de doação você já viu aqui no Brasil?
PARA LER

Uma das formas de fazer com que as pessoas pratiquem esse tipo de doação é por meio de campanhas. Veja esta campanha publicitária:
ROLEZINHO: diminutivo de rolê ou rolé; em linguagem informal, significa “pequeno passeio”. Atualmente, refere-se a encontros simultâneos de centenas de pessoas em locais como praças, parques públicos e shopping centers, organizados via internet.
1. Sobre o que trata a campanha publicitária?
2. De acordo com o cartaz, onde se deve ir para fazer a doação?
3. A campanha publicitária faz uso do diminutivo da palavra “rolê”. Essa palavra ganha sentido positivo ou negativo em relação ao contexto em que foi utilizada? Explique.
4. O significado dado a “rolezinho” foi o de “pequeno passeio”. Neste caso, a palavra “pequeno” pode ser substituída por:
a. ( ) longo (“rolezinho” significa: longo passeio).
b. ( ) curto. (“rolezinho” significa: curto passeio).
5. Existe diferença de sentido entre as palavras “rolê” e “rolezinho”? Por que os publicitários escolheram a forma “rolezinho”?
PARA ESQUEMATIZAR
O diminutivo pode trazer novos significados, como vimos no exemplo do rolezinho! Vejamos outros usos do diminutivo para: a palavra “cama”:
Tamanho
Exemplo: Alguém vê uma cama pequena e diz: Olha mãe! Uma caminha!!!
Carinho/afeição/cuidado
Exemplo: Alguém sente saudades de algo e fala: Que saudade da minha caminha!
Atenuar/amenizar
Exemplo: Quando a cama não corresponde às expectativas, diz: Dá para dormir nesta caminha...

Ironia

Exemplo: A mãe vê que o filho vai sair de casa sem arrumar a cama bagunçada e diz: Que caminha, hein? Não vai arrumar, não?
Como vimos, a palavra “rolê” somada com “-inho” formou uma nova palavra, ou seja, ganhou um novo sentido. No Brasil, existem diversas maneiras de usar o diminutivo!
Vejamos:
Pode com substantivos: picada - picadinha; Ana - Aninha etc.
Pode com adjetivos: doente - doentinho etc.
Pode com advérbios? Pode! agora - agorinha etc.
Pode com verbos? Pode!! ele está dormindinho, etc.
Pode com...? Pode!!!
Muitos usos, né?! Na sua língua se usa o diminutivo? Em que situações? Com que objetivos? Compartilhe com a turma.

Fofinho, legalzinho, bonitinho. Você já ouviu essas palavras no português brasileiro? Relacione outras palavras em diminutivo com as imagens:


PARA PRATICAR


Agora, vamos ouvir um diálogo entre uma enfermeira e um doador de sangue. Você consegue perceber os diferentes sentidos das palavras diminutivas em diferentes contextos?

https://www.canva.com/design/DAErWM-TVHg/j5ITr8YO7syEa_7CqaCmUA/ watch?utm_content=DAErWM-TVHg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

Enfermeira: — Você tem medo de agulha?
Doador: — Tenho medo.
Enfermeira: — É só uma picadinha!!! Não vai doer nada... O seu braço vai ficar um pouco doloridinho, mas vai passar.
Doador: — Você só está dizendo isso para me acalmar. Tentando diminuir a dor... Mas, vai doer, sim!!!
O sentido é de:
( ) Atenuar ou amenizar o sentido
( ) Ironia
( ) Carinho, afeição, cuidado
( ) Tamanho pequeno
Enfermeira: — Olha a agulha é bem pequena, uma agulhinha.
Doador: — É pequena, mas dói muito.
O sentido é de:
( ) Atenuar ou amenizar o sentido
( ) Ironia
( ) Carinho, afeição, cuidado
( ) Tamanho pequeno
Enfermeira: — É para o bem do seu amorzinho. Quanto tempo faz que vocês são casados?
Doador: — Faz dez anos que sou casado com a minha esposa.
Enfermeira: — E qual é o apelido carinhoso de vocês?
Doador: — É amorzinho, benzinho, meu pedacinho do céu.
Enfermeira: — Que fofinhos!!!
O sentido é de:
( ) Atenuar ou amenizar o sentido
( ) Ironia
Doador: — Ai, Ai...!!! Ui...!!!
Enfermeira: — Pronto, acabou!
Doador: — Que picadinha, hein?!
Enfermeira: — Doeu?
Doador: — Muito.
Enfermeira: — Ah, você foi irônico!
O sentido é de:
( ) Atenuar ou amenizar o sentido
( ) Ironia
( ) Carinho, afeição, cuidado
( ) Tamanho pequeno
( ) Carinho, afeição, cuidado
( ) Tamanho pequeno
PARA SABER MAIS
Para expandir o conteúdo estudado, acesse o material de apoio. Lá você verá outras situações de contexto para o uso dos diminutivos.
Os Sentidos do Diminutivo | Vivian Rio
https://vivianrio.wordpress.com/2010/03/09/os-sentidos-do-diminutivo/
FICHA TÉCNICA
AUTORA: Emanuelly Perlas Condori
https://www.youtube.com/watch?v=Ho5meN03yis
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fpt%2Fphotos%2Fidoso-longevidade-senhora-idosa-3400597%2F&psig=AOvVaw22ldSYyVxMTSpAymf3d-zR&ust=1630842460229000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwib373dn-XyAhU8A7kGHWbyBJQQr4kDegUIARDnAQ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fradiopeaobrasil.com.br%2Fdesemprego-aumenta-e-atinge-140-milhoes-de-pessoas%2F&psig=AOvVaw3x68SdPLLLPRFviqT7mC9p&ust=1630842156356000&source=images&cd=vfe&ved=0CAwQjhxqFwoTCJCW9tme5fICFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fpt%2Fphotos%2Fc%25C3%25A9dulas-dinheiro-real-nota-1195084%2F&psig=AOvVaw3-GILgirrEn2RIg3ON3gc-&ust=1630842638918000&source=images&cd=vfe&ved=0CAwQjhxqFwoTCIDcu--h5fICFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pxfuel.com%2Fpt%2Ffree-photo-ocikv&psig=AOvVaw33FmJu_pgcU0osG8JaVXhX&ust=1630842844290000&source=images&cd=vfe&ved=0CAwQjhxqFwoTCLjx1Nmh5fICFQAAAAAdAAAAABAD

Vela Queimando Acesa Luz De - Foto gratuita no Pixabay
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpublicdomainvectors.org%2Fpt%2Fvetorial-gratis%2FFilha-e-m%25C3%25A3e-vintage%2F72523.html&psig=AOvVaw1V7jry0wCdosCCY-xPHDUJ&ust=1630843192309000&source=images&cd=vfe&ved=0CAwQjhxqFwoTCLiJ9Mmi5fICFQAAAAAdAAAAABAR
https://www.comvest.unicamp.br/vest2015/F1/f12015QW.pdf
https://www.canva.com/design/DAEqwR6nb_E/qw-wUwWoxDAHfNI5vRjqRA/ view?utm_content=DAEqwR6nb_E&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink


REZA A LENDA
AULA: roteiro didático
Situações de uso
■ Conhecer lendas brasileiras e interpretar textos literários.
Expectativa de Aprendizagem
■ Conhecer personagens da cultura popular brasileira;
■ Redigir e compreender o gênero lenda;
■ Descrever narrativas, usando o pretérito perfeito e imperfeito do indicativo.
Objetivos Gramaticais:
■ Revisar o pretérito perfeito e imperfeito do indicativo.
Objetivos Comunicativos:
■ Falar sobre aspectos culturais do Brasil e do país de origem do estudante.
Autora: Ana Carolina Oliveira Freitag
Esta aula tem como temática as lendas brasileiras. Para abordar o assunto, busca-se contextualizar essas histórias em conversas do dia a dia, com o objetivo de demonstrar aos alunos como as narrativas orais estão presentes na cultura brasileira. A unidade recebe o nome da expressão “reza a lenda’’, para demonstrar como essa temática é forte na cultura popular do nosso país.
Procura-se trabalhar as quatro habilidades comunicativas (escrita, oralidade, leitura e escuta). O ponto gramatical em discussão, revisão do pretérito perfeito e imperfeito do indicativo, está inserido na temática cultural de lendas brasileiras.

É utilizada a Abordagem Comunicativa Intercultural, na qual, segundo Mendes (2011), o aluno é visto como agente de integração e coprodução de significado, de modo que os seus interesses, necessidades e desejos são considerados para definir as práticas na sala de aula.
Pensando nisso, e para que o aluno seja “coparticipante e colaborador na produção dos significados produzidos em sala de aula’’ (MENDES, 2011, p.155), nesta unidade, busca-se relacionar a cultura brasileira com a cultura do país de origem dos estudantes.
PARA COMEÇAR
Esse é um momento para que os alunos tragam seus conhecimentos prévios para o ambiente de aprendizado, a fim de que conheçam um aspecto da cultura brasileira e reflitam sobre a língua portuguesa.
Para começar a aula, é interessante que o professor leia o título da unidade e pergunte aos estudantes se eles já escutaram a frase “reza a lenda’’. Se algum deles conhecer o termo, deve-se pedir que explique; caso ninguém o conheça, o professor pode pedir para que criem hipóteses acerca de quando essa sentença é utilizada e qual é o seu significado. Depois disso, deve-se explicar que, no decorrer da aula, será visto o uso e definição dessa expressão idiomática.
Em grupo ou de maneira individual, os estudantes devem responder às questões apresentadas. Esse é um momento de preparação para o tema da aula, por isso, independentemente de como as perguntas serão respondidas, elas devem ser discutidas em grupo.
Espera-se que os alunos façam a descrição da imagem e, em seguida, o professor deve esclarecer que a ilustração representa personagens da cultura brasileira. Caso alguém reconheça algum deles, deve ser estimulado a compartilhar o que sabe, mas, se ninguém os conhecer, é aconselhável que o professor informe o nome dos personagens e explique que nesta aula será explorada a história de um deles.
Neste momento, é necessário esclarecer que lendas são narrativas populares, transmitidas ao longo do tempo, principalmente de forma oral, que misturam acontecimentos reais e imaginários. Depois, o professor deve pedir que os estudantes compartilhem alguma lenda do seu país. Com isso, pretende-se que haja um espaço de troca cultural, no qual os alunos aprendam um aspecto da cultura brasileira, relacionando com algo da cultura do seu país.
PARA OUVIR

Essa atividade tem como objetivo apresentar lendas brasileiras, através de uma conversa entre amigos. Antes de iniciar, é importante esclarecer que o vídeo conta um “causo”, ou seja, retrata algo que aconteceu com uma pessoa.
É aconselhável que os alunos leiam as perguntas antes de começar a atividade. Na primeira escuta, recomenda-se que os alunos se concentrem em prestar atenção na história que será contada. Logo, é apenas na segunda escuta que os alunos devem

tentar responder às perguntas. Se for necessário, o professor pode passar o áudio pela terceira vez.

Nesta seção, o título da unidade aparece inserido em uma situação real de uso e o professor deve explicá-lo.
PARA LER

Antes de iniciar a leitura do conto “O Lobisomem”, de Raimundo Magalhães Júnior, pede-se que os alunos leiam o título do texto e criem hipóteses sobre como será a história.
É importante explicar que será apresentado somente um trecho do conto. Se o professor julgar necessário, pode apresentar alguns dados da vida do autor. A biografia de Raimundo Magalhães Júnior pode ser acessada no link: https://www.academia.org.br/ academicos/raimundo-magalhaes-junior/biografia
De maneira individual, os alunos realizarão a leitura do conto. Por se tratar de um texto literário, a linguagem é mais refinada e apresenta muitos regionalismos. Por esse motivo, aconselha-se que o professor reforce a importância de uma leitura global, explicando que as dúvidas de vocabulário serão sanadas depois.
PARA ESQUEMATIZAR
A partir de algumas frases retiradas do conto, os alunos serão convidados a identificar os verbos que estão no passado. Pressupõe-se que, a partir do nível pré-intermediário, os estudantes já conheçam os tempos verbais estudados.
Para realizar a revisão dos dois pretéritos do indicativo, o professor pode consultar a gramática de Cunha (1975, p. 435), segundo a qual o pretérito perfeito “indica uma ação que se produziu em certo momento do passado. É a que se emprega para descrever o passado tal como aparece a um observador no presente e que o considera no presente.’’ Sendo assim, esse tempo verbal marca eventos pontuais no passado.
Por outro lado, o pretérito imperfeito do indicativo “designa fundamentalmente um fato passado, mas não concluído (imperfeito = não perfeito, inacabado). Encerra, pois, uma ideia de continuidade, de duração do processo verbal mais acentuada para descrições e narrações de acontecimentos passados.’’ (CUNHA, 1975, p. 432).
Desse modo, o pretérito imperfeito permite que o falante faça uma descrição, fale de um hábito ou de uma repetição regular no passado.
É interessante chamar a atenção dos alunos para o fato de que, no pretérito imperfeito, os verbos da primeira conjugação (terminados em -ar) apresentam uma forma
distinta da forma dos verbos de segunda e terceira conjugações (terminados em -er e -ir), por exemplo: cantar = cantava; comer = comia; sorrir = sorria.

Por fim, os alunos devem completar a tabela com a conjugação dos verbos retirados do conto (deixar, acontecer e ouvir).
PARA PRATICAR
Nesta seção é criada uma situação real de uso, para incentivar os alunos a compartilharem uma lenda do seu país. Ao propor uma produção textual, espera-se o uso do tempo verbal revisado. Desse modo, busca-se que o conteúdo estudado durante a aula faça sentido para a realidade dos estudantes.
Depois de realizar a atividade, é possível propor aos estudantes que leiam seus textos para a turma, criando-se, assim, um espaço de troca cultural.
PARA SABER MAIS
Esta seção destina-se à prática comunicativa. Especificamente, a ideia é apresentar um vídeo sobre a lenda do Curupira, retirado do canal MultiRio, e, a partir disso, propor perguntas para que os estudantes descrevam a narrativa que lhes foi apresentada. Espera-se aqui o surgimento espontâneo do pretérito perfeito e imperfeito do indicativo.
Por último, são sugeridas fontes complementares para conhecer outras lendas brasileiras.
REFERÊNCIAS:
CUNHA, Celso F. Gramática da Língua Portuguesa. 2. ed. Rio de Janeiro: MECFENAME, 1975.
MENDES, E. O português como língua de mediação cultural: por uma formação intercultural de professores e alunos de PLE. In: MENDES, E. (Org.). Diálogos interculturais: ensino e formação em português língua estrangeira. Campinas: Pontes Editores, 2011.
AULA:

REZA A LENDA
material do professor

PARA COMEÇAR
O Brasil, assim como muitos países, possui histórias que são contadas em todas as gerações. Observe a imagem abaixo e responda às perguntas:
1. O que está sendo representado na figura?
Espera-se que os estudantes descrevam a imagem. Sugestão de resposta: na ilustração, há um lobo com estatura de homem, um cavalo com fogo no lugar da cabeça e um menino sem uma perna, com um gorro na cabeça e um cachimbo na boca .

2. Você já viu esses personagens antes? Com o que eles se parecem?
Espera-se que os estudantes façam comentários pessoais. Caso já tenham visto esses personagens, sugere-se que o professor pergunte onde. Se for o primeiro contato dos alunos com esses personagens, sugere-se que o professor questione com o que eles se parecem. Possíveis
respostas: com um homem, com um cavalo, com um lobo ou com personagens de histórias fantásticas.
3. A ilustração representa lendas brasileiras. Você sabe o que são lendas?
Este é um momento cultural! Em uma resposta afirmativa, espera-se que os estudantes expliquem o que sabem sobre o gênero. Caso os estudantes desconheçam esse conceito, o professor deve explicar que lendas são narrativas fantásticas, transmitidas pela tradição oral, nas quais há uma mistura de acontecimentos reais e imaginários. Sugere-se ao professor mencionar quais são os personagens retratados na ilustração: Lobisomem, Mula sem cabeça e Saci-pererê.
4. No seu país existem histórias como essas? Compartilhe com a turma. R esposta pessoal.
PARA OUVIR
Agora, escute um diálogo entre quatro pessoas que estão viajando, no qual será narrado um “causo” sobre a Bola de fogo e o Lobisomem. Você sabe o que é um “causo”? Após escutar o áudio, responda às seguintes perguntas: Áudio retirado do canal do Projeto Fonologia, disponível no link: https://youtu.be/ 1ZgnM-tMGA0
1. Para você, essa conversa se passa entre amigos ou entre pessoas desconhecidas? Resposta pessoal.
2. Em que lugar essas pessoas estavam conversando?
Na estrada, dentro de um automóvel.
3. Qual é o assunto da conversa?

As pessoas estão contando “causos” sobre a Bola de Fogo e o Lobisomem.
4. Elas mencionam algo sobre uma “bola de fogo’’. O que seria isso?
É uma bola de fogo que aparece e vai acompanhando os motoristas que estão sozinhos.
5. Quando e onde a Bola de fogo aparece?
A Bola de fogo aparece no trecho da rodovia que vai de Elisa até Casa Branca, por volta das 18h00.
6. Quem viu a Bola de fogo?
Valda, a cabeleireira.
7. Qual é a história do Lobisomem? Quando ele se transforma?
Quando um casal gera seis filhas mulheres e o sétimo filho é do sexo masculino, o menino será um Lobisomem, ou seja, metade homem e metade lobo. A criança nasce humana e se transforma na lua cheia.
8. No áudio, as pessoas acreditam nessas histórias?
Nem todas as pessoas acreditam.
9. Você sabe o que significa a expressão “reza a lenda’’?
Espera-se uma compreensão através do contexto. Nesse diálogo, a expressão é usada para dar uma explicação popular e não científica.
PARA LER
Agora leia um trecho do conto “O Lobisomem’’, de Raymundo Magalhães. Pelo título, como você imagina que será essa narrativa?
Texto disponível em: https://docs.google.com/document/d/1DK6NeJjTHm8OOXXkzGnzOXuSnXO22Gzta1gWfZ6o4ew/edit?usp=sharing

O Lobisomem de Raymundo Magalhães.
[...]
“ Seu Bento era um belo tipo de homem, muito branco, de nariz aquilino, com uma barba cerrada e longa, cujas pontas tinha o hábito de retorcer, com arrogância. Andava pelos setenta anos, mas estava forte, esperando viver, pelo menos, o dobro... Extremamente desasseado, sempre de corrimboque em punho, a fungar pitadas de tabaco, com um enorme lenço de ganga sobre um dos ombros, era uma figura pitoresca pelo seu modo de vestir. Quer de verão, quer de inverno, calçava tamancos e o seu traje compunha-se de uma calça de riscado e de uma camisa de madapolão com as fraldas soltas que lhe alcançavam os joelhos. Nada neste mundo o obrigaria a passar os panos ou a enfiar um paletó. Ia assim a toda parte, à igreja como ao mercado, e, mesmo quando se faziam eleições, era em fralda de camisa que dava o seu voto ao governo.
Cer ta manhã, ainda com escuro, estava a rodinha formada, uns sentados no bal-
cão, outros em caixas vazias de gás. Era em junho. Fazia um frio de bater o queixo. A cachaça corria com mais abundância e a palestra aumentava de animação, à medida que os copinhos se repetiam. A neve, como lá se chama a cerração, era tão espessa que não deixava ver nada a vinte metros de distância. Por isso, ninguém reparou na chegada do Zé Vicente, um lavrador de Pavuna, senão quando ele, depois de ter amarrado o cavalo à gameleira da porta, entrou na bodega, muito maneiroso, dando os bons dias e apertando a mão de cada um. Seu Bento quis saber logo que novidade era aquela, porque aparecia ele assim de madrugada. Haveria doença em casa?
— Foi a mulher que quebrou o resguardo — explicou o Zé Vicente. Teve criança há três dias e estava passando muito bem, quando, ontem de noite, aconteceu uma desgraça...
— Que foi? Que foi? — perguntaram todos ao mesmo tempo.
— Acho que foi um lobisomem. Pela meia-noite, ouvimos um bicho rosnar e arranhar a porta do quintal com muita força. A cachorrinha, parida de novo, deu logo sinal do lado de dentro e o bicho largou um grunhido que nos encheu de pavor. Talvez seja um guaxinim, disse eu à mulher. Quis-me levantar, sair fora, para ver que marmota era aquela, mas a Maria não deixou. Depois, mais nada. A Baleia calou-se. Pegamos no sono e, hoje de manhã, ao despertar, verificamos que à porta dos fundos estava aberta e o bicho havia comido a ninhada de cachorrinhos que estava na cozinha. A Maria jura que foi um lobisomem. Eu também acho que sim. O certo é que a pobrezinha tomou um susto medonho, quebrou o resguardo e, agora, está para morrer. Seu Bento consolou o pobre homem sobre cujo lar desabava uma tamanha calamidade:
— Isso não é nada, Zé Vicente. Dá-se um jeito. Tenha coragem e fé em Deus. Consultou demoradamente o Chernoviz:
— O remédio é um purgante de Leroy ou então Água Inglesa. Leve o laruá (era assim que ele pronunciava) leve o laruá e venha me dizer, amanhã, se a mulher melhorou. Ninguém se atrevia a interromper seu Bento, quando ele tratava de medicina. Quem o fizesse, imprudentemente, podia ter a certeza de que o velho curioso esmagá-lo-ia com um olhar colérico e com esta simples apóstrofe — Filho!... Filho, apenas. Não dizia de quem mas todos sabiam o verdadeiro sentido daquele palavrão...
Zé Vicente guardou o remédio, pagou-o, despediu-se dos circunstantes e partiu a galope. Tomou-se mais uma rodada e os comentários, então, esfuziaram.
— Santa simplicidade! — observou seu Doca. — Quanta gente estúpida existe ainda por este mundo! Crer em lobisomem e almas penadas, em pleno século XX, no Século da Eletricidade, só mesmo nesta infeliz terra! Mas, não pode ser de outro modo, porque o governo e a nossa Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana, em vez de instruírem o povo, tratam de embrutecê-lo, cada vez mais, para que ele permaneça eternamente, a mesma besta, fácil de governar com um freio — quer esse freio seja o terror do inferno, quer o terror da lei!
Calou-se, desolado, com aquele desabafo, certo de que ninguém compreendia a beleza do seu pensamento. Bebeu mais um copinho. Zangou-se por se julgar um incompreendido, no meio daqueles matutos broncos e passivos. E, de zangado, engoliu,
logo em seguida, outro copinho. Irra!
— Esta mocidade de hoje — disse o velho Macedo. — Esta mocidade de hoje não crê mais em nada. Por isso é que o mundo está perdido e acontece tanta desgraça feia... Se até os meninos como você, Doca, já são ateus, maçons, dizem que Deus não existe... Pois fique sabendo, moço, que Deus está lá em cima e que há muita coisa, muita coisa... Almas do outro mundo, lobisomem, tudo isso é verdade. Eu nunca vi alma, mas lobisomem já topei um...
Explodiu uma gargalhada na roda. Seu Macedo, um velhinho pequenino, melgaço, de olhos azuis, cabeça enorme, era conhecido como o maior mentiroso das redondezas. Não abria a boca que não fosse para contar histórias de onça, cada qual mais estapafúrdia, e ficava furioso, quando punham em dúvida a sua palavra. Como, de resto, as suas mentiras não faziam mal a ninguém, não passando de arrojadas fantasias, todos gostavam de ouvi-lo e muitos o estimulavam a contar casos maravilhosos. — Pois conte lá, seu Macedo, conte lá a história do lobisomem. Vamos.
Agora responda às perguntas:
1. O que é narrado?
Uma conversa entre amigos, na qual um deles conta que apareceu um Lobisomem em sua casa.
2. Onde acontece a história?
A história acontece em uma “bodega’’ e no “quintal’’ da casa de Zé Vicente.
3. Como são caracterizados os personagens do texto?
Seu Bento é caracterizado como “um belo tipo de homem, muito branco, de nariz aquilino, com uma barba cerrada e longa, cujas pontas tinha o hábito de retorcer, com arrogância’’; Zé Vicente como “um lavrador de Pavuna’’; e Seu Macedo, “um velhinho pequenino, melgaço, de olhos azuis, cabeça enorme, era conhecido como o maior mentiroso das redondezas.’’
4. O que significa a expressão “frio de bater o queixo’’?
Espera-se uma compreensão através do contexto. Essa expressão significa um frio intenso.
5. Você já tinha ouvido falar sobre o Lobisomem? Pela descrição do texto, como ele aparenta ser?
Na primeira parte da pergunta, espera-se uma resposta pessoal. Pelo trecho “ouvimos um bicho rosnar e arranhar a porta do quintal com muita força”, percebe-se que o Lobisomem é um bicho forte e bravo.
6. Os personagens do texto acreditam na existência do Lobisomem? Como podemos perceber isso?
Na fala de Seu Doca: “crer em lobisomem e almas penadas, em pleno século XX, no Século da Eletricidade, só mesmo nesta infeliz terra!’’, percebe-se sua descrença no Lobisomem.
7. Existe alguma semelhança entre o conto e o áudio da atividade anterior?
As duas narrativas falam sobre lendas e “causos”.
8. Como você imagina que terminou essa história? Na sua opinião, seu Macedo realmente encontrou o Lobisomem? Compartilhe com a turma. Resposta pessoal.
Para descobrir o final da história, acesse o site:

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ua000291.pdf
PARA ESQUEMATIZAR
O texto lido anteriormente é um conto. Ao contarmos uma história, geralmente ordenamos as ações conforme elas acontecem no tempo. Quando a história do Lobisomem acontece? A história acontece no passado. Observe as frases retiradas do conto:
Seu Bento era um belo tipo de homem, muito branco, de nariz aquilino A neve, como lá se chama a cerração, era tão espessa que não deixava ver nada a vinte metros de distância.
Teve criança há três dias e estava passando muito bem, quando, ontem de noite, aconteceu uma desgraça...
Ninguém se atrevia a interromper seu Bento, quando ele tratava de medicina. Os termos destacados fazem referência ao presente, ao passado ou ao futuro? Fa zem referência ao passado.
Nos quadros abaixo vamos relembrar o uso e as formas do pretérito perfeito e imperfeito. Complete as lacunas com as formas adequadas.
Pretérito perfeito
O pretérito perfeito introduz eventos pontuais do passado.
DEIXAR ACONTECER OUVIR
EU deixei aconteci ouvi
VOCÊ deixou aconteceu ouviu
ELE/ELA deixou aconteceu ouviu
A GENTE deixou aconteceu ouviu
NÓS deixamos acontecemos ouvimos
ELES/ELAS deixaram aconteceram ouviram
VOCÊS deixaram aconteceram ouviram
Pretérito imperfeito
O pretérito imperfeito apresenta diversos usos, como fazer uma descrição, falar de um hábito ou de uma repetição regular no passado.
DEIXAR ACONTECER OUVIR
EU deixava acontecia ouvia
VOCÊ deixava acontecia ouvia
ELE/ELA deixava acontecia ouvia
A GENTE deixava acontecia ouvia
NÓS deixávamos acontecíamos ouvíamos
ELES/ELAS deixavam aconteciam ouviam
VOCÊS deixavam aconteciam ouviam
PARA PRATICAR
Agora é a sua vez! Imagine que os seus professores de português estão organizando um livro sobre lendas de diferentes culturas, que estará disponível para outros estudantes no site do seu curso de idiomas. Você foi convidado para participar desse projeto e, para isso, deve escrever um texto contando uma lenda do seu país. Compartilhe seu texto com a turma. Re sposta pessoal.
PARA SABER MAIS
A animação abaixo conta uma lenda do folclore brasileiro. Assista ao vídeo e depois comente com a turma: onde a história acontece? Como são caracterizados os personagens? Qual lenda é apresentada? Como a narrativa é iniciada e finalizada?
“O Curupira”, disponível no canal MultiRio: https://www.youtube.com/watch?v=QJ1If64uwQU
Ne ssa animação, os personagens não produzem falas, por isso, não se trata de uma atividade de compreensão auditiva. Espera-se que os estudantes assistam ao vídeo com atenção, para que sejam capazes de explicar o que ocorre na narrativa. Para que a prática comunicativa aconteça, os alunos devem discutir as perguntas propostas. Nesse momento, espera-se o surgimento espontâneo do pretérito perfeito e imperfeito do indicativo. Se o professor preferir, a atividade pode ser realizada em casa. Nesse caso, aconselha-se que as respostas sejam discutidas na próxima aula.
Pa ra complementar, indicamos: um áudio sobre a lenda do Saci, produzido pelo Ministério da Educação; um texto sobre lendas do folclore, retirado do site Educa mais Brasil; e a série Cidade Invisível, disponível no Netflix.
Gostaria de conhecer mais lendas brasileiras? Acesse:
Série do Professor - Gente Brasileira - Programa 08: Lendas e mitos brasileiros:
ht tp://www.dominiopublico.gov.br/download/som/me000905.mp3
Lendas do Folclore:
ht tps://www.educamaisbrasil.com.br/enem/artes/lendas-do-folclore
Cidade invisível - O folclore brasileiro na tela do NETFLIX | SETE | EP. 28
ht tps://www.youtube.com/watch?v=9OIIbRodGdk

FICHA TÉCNICA
AUTORA: Ana Carolina Oliveira Freitag
Ilustração: Leticia Lippe
Vídeos:
https://youtu.be/1ZgnM-tMGA0
ht tps://www.youtube.com/watch?v=QJ1If64uwQU

Texto: https://docs.google.com/document/d/1DK6NeJjTHm8OOXXkzGnzOXuSnXO22Gzta1gWfZ6o4ew/edit?usp=sharing
Matérias:
ht tp://www.dominiopublico.gov.br/download/som/me000905.mp3
ht tps://www.educamaisbrasil.com.br/enem/artes/lendas-do-folclore
ht tps://www.youtube.com/watch?v=9OIIbRodGdk
REZA A LENDA
material do aluno


PARA COMEÇAR
O Brasil, assim como muitos países, possui histórias que são contadas em todas as gerações. Observe a imagem abaixo e responda às perguntas:
1. O que está sendo representado na figura?
2. Você já viu esses personagens antes? Com o que eles se parecem?
3. A ilustração representa lendas brasileiras. Você sabe o que são lendas?

4. No seu país existem histórias como essas? Compartilhe com a turma.
PARA OUVIR
Agora, escute um diálogo entre quatro pessoas que estão viajando, no qual será narrado um “causo” sobre a Bola de fogo e o Lobisomem. Você sabe o que é um “causo”? Após escutar o áudio, responda às seguintes perguntas: Áudio retirado do canal do Projeto Fonologia, disponível no link: https://youtu.be/ 1ZgnM-tMGA0

1. Para você, essa conversa se passa entre amigos ou entre pessoas desconhecidas?
2. Em que lugar essas pessoas estavam conversando?
3. Qual é o assunto da conversa?
4. Elas mencionam algo sobre uma “bola de fogo’’. O que seria isso?
5. Quando e onde a Bola de fogo aparece?
6. Quem viu a Bola de fogo?
7. Qual é a história do Lobisomem? Quando ele se transforma?
8. No áudio, as pessoas acreditam nessas histórias?
9. Você sabe o que significa a expressão “reza a lenda’’?

PARA LER
Agora leia um trecho do conto “O Lobisomem’’, de Raymundo Magalhães. Pelo título, como você imagina que será essa narrativa? Texto disponível em: https://docs.google.com/document/d/1DK6NeJjTHm8OOXXkzGnzOXuSnXO22Gzta1gWfZ6o4ew/ edit?usp=sharing
O Lobisomem de Raymundo Magalhães.
[...]
“ Seu Bento era um belo tipo de homem, muito branco, de nariz aquilino, com uma barba cerrada e longa, cujas pontas tinha o hábito de retorcer, com arrogância. Andava pelos setenta anos, mas estava forte, esperando viver, pelo menos, o dobro... Extremamente desasseado, sempre de corrimboque em punho, a fungar pitadas de tabaco, com um enorme lenço de ganga sobre um dos ombros, era uma figura pitoresca pelo seu modo de vestir. Quer de verão, quer de inverno, calçava tamancos e o seu traje compunha-se de uma calça de riscado e de uma camisa de madapolão com as fraldas soltas que lhe alcançavam os joelhos. Nada neste mundo o obrigaria a passar os panos ou a enfiar um paletó. Ia assim a toda parte, à igreja como ao mercado, e, mesmo quando se faziam eleições, era em fralda de camisa que dava o seu voto ao governo.
Cer ta manhã, ainda com escuro, estava a rodinha formada, uns sentados no balcão, outros em caixas vazias de gás. Era em junho. Fazia um frio de bater o queixo. A cachaça corria com mais abundância e a palestra aumentava de animação, à medida
que os copinhos se repetiam. A neve, como lá se chama a cerração, era tão espessa que não deixava ver nada a vinte metros de distância. Por isso, ninguém reparou na chegada do Zé Vicente, um lavrador de Pavuna, senão quando ele, depois de ter amarrado o cavalo à gameleira da porta, entrou na bodega, muito maneiroso, dando os bons dias e apertando a mão de cada um. Seu Bento quis saber logo que novidade era aquela, porque aparecia ele assim de madrugada. Haveria doença em casa?
— Foi a mulher que quebrou o resguardo — explicou o Zé Vicente. Teve criança há três dias e estava passando muito bem, quando, ontem de noite, aconteceu uma desgraça...
— Que foi? Que foi? — perguntaram todos ao mesmo tempo.
— Acho que foi um lobisomem. Pela meia-noite, ouvimos um bicho rosnar e arranhar a porta do quintal com muita força. A cachorrinha, parida de novo, deu logo sinal do lado de dentro e o bicho largou um grunhido que nos encheu de pavor. Talvez seja um guaxinim, disse eu à mulher. Quis-me levantar, sair fora, para ver que marmota era aquela, mas a Maria não deixou. Depois, mais nada. A Baleia calou-se. Pegamos no sono e, hoje de manhã, ao despertar, verificamos que à porta dos fundos estava aberta e o bicho havia comido a ninhada de cachorrinhos que estava na cozinha. A Maria jura que foi um lobisomem. Eu também acho que sim. O certo é que a pobrezinha tomou um susto medonho, quebrou o resguardo e, agora, está para morrer.
Seu Bento consolou o pobre homem sobre cujo lar desabava uma tamanha calamidade:
— Isso não é nada, Zé Vicente. Dá-se um jeito. Tenha coragem e fé em Deus. Consultou demoradamente o Chernoviz:
— O remédio é um purgante de Leroy ou então Água Inglesa. Leve o laruá (era assim que ele pronunciava) leve o laruá e venha me dizer, amanhã, se a mulher melhorou. Ninguém se atrevia a interromper seu Bento, quando ele tratava de medicina. Quem o fizesse, imprudentemente, podia ter a certeza de que o velho curioso esmagá-lo-ia com um olhar colérico e com esta simples apóstrofe — Filho!... Filho, apenas. Não dizia de quem mas todos sabiam o verdadeiro sentido daquele palavrão...
Zé Vicente guardou o remédio, pagou-o, despediu-se dos circunstantes e partiu a galope. Tomou-se mais uma rodada e os comentários, então, esfuziaram.
— Santa simplicidade! — observou seu Doca. — Quanta gente estúpida existe ainda por este mundo! Crer em lobisomem e almas penadas, em pleno século XX, no Século da Eletricidade, só mesmo nesta infeliz terra! Mas, não pode ser de outro modo, porque o governo e a nossa Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana, em vez de instruírem o povo, tratam de embrutecê-lo, cada vez mais, para que ele permaneça eternamente, a mesma besta, fácil de governar com um freio — quer esse freio seja o terror do inferno, quer o terror da lei!
Calou-se, desolado, com aquele desabafo, certo de que ninguém compreendia a beleza do seu pensamento. Bebeu mais um copinho. Zangou-se por se julgar um incompreendido, no meio daqueles matutos broncos e passivos. E, de zangado, engoliu, logo em seguida, outro copinho. Irra!
— Esta mocidade de hoje — disse o velho Macedo. — Esta mocidade de hoje não
crê mais em nada. Por isso é que o mundo está perdido e acontece tanta desgraça feia... Se até os meninos como você, Doca, já são ateus, maçons, dizem que Deus não existe... Pois fique sabendo, moço, que Deus está lá em cima e que há muita coisa, muita coisa... Almas do outro mundo, lobisomem, tudo isso é verdade. Eu nunca vi alma, mas lobisomem já topei um... Explodiu uma gargalhada na roda. Seu Macedo, um velhinho pequenino, melgaço, de olhos azuis, cabeça enorme, era conhecido como o maior mentiroso das redondezas. Não abria a boca que não fosse para contar histórias de onça, cada qual mais estapafúrdia, e ficava furioso, quando punham em dúvida a sua palavra. Como, de resto, as suas mentiras não faziam mal a ninguém, não passando de arrojadas fantasias, todos gostavam de ouvi-lo e muitos o estimulavam a contar casos maravilhosos. — Pois conte lá, seu Macedo, conte lá a história do lobisomem. Vamos.
Agora responda às perguntas:
1. O que é narrado?
2. Onde acontece a história?
3. Como são caracterizados os personagens do texto?
4. O que significa a expressão “frio de bater o queixo’’?
5. Você já tinha ouvido falar sobre o Lobisomem? Pela descrição do texto, como ele aparenta ser?
6. Os personagens do texto acreditam na existência do Lobisomem? Como podemos perceber isso?
7. Existe alguma semelhança entre o conto e o áudio da atividade anterior?
8. Como você imagina que terminou essa história? Na sua opinião, seu Macedo realmente encontrou o Lobisomem? Compartilhe com a turma.
Para descobrir o final da história, acesse o site: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ua000291.pdf
PARA ESQUEMATIZAR
O texto lido anteriormente é um conto. Ao contarmos uma história, geralmente ordenamos as ações conforme elas acontecem no tempo. Quando a história do Lobisomem acontece?
Observe as frases retiradas do conto:

Seu Bento era um belo tipo de homem, muito branco, de nariz aquilino
A neve, como lá se chama a cerração, era tão espessa que não deixava ver nada a vinte metros de distância.
Teve criança há três dias e estava passando muito bem, quando, ontem de noite, aconteceu uma desgraça...
Ninguém se atrevia a interromper seu Bento, quando ele tratava de medicina.
Os termos destacados fazem referência ao presente, ao passado ou ao futuro?
Nos quadros abaixo vamos relembrar o uso e as formas do pretérito perfeito e imperfeito. Complete as lacunas com as formas adequadas.
Pretérito perfeito
O pretérito perfeito introduz eventos pontuais do passado.
DEIXAR ACONTECER OUVIR
EU deixei ouvi
VOCÊ aconteceu
ELE/ELA ouviu
A GENTE
NÓS deixamos
ELES/ELAS aconteceram
VOCÊS deixaram ouviram
Pretérito imperfeito
O pretérito imperfeito apresenta diversos usos, como fazer uma descrição, falar de um hábito ou de uma repetição regular no passado.
DEIXAR ACONTECER OUVIR
EU acontecia
VOCÊ ouvia
ELE/ELA
A GENTE deixava
NÓS acontecíamos
ELES/ELAS deixavam ouviam
VOCÊS aconteciam
PARA PRATICAR
Agora é a sua vez! Imagine que os seus professores de português estão organizando um livro sobre lendas de diferentes culturas, que estará disponível para outros estudantes no site do seu curso de idiomas. Você foi convidado para participar desse projeto e, para isso, deve escrever um texto contando uma lenda do seu país. Compartilhe seu texto com a turma.
PARA SABER MAIS
A animação abaixo conta uma lenda do folclore brasileiro. Assista ao vídeo e depois comente com a turma: onde a história acontece? Como são caracterizados os personagens? Qual lenda é apresentada? Como a narrativa é iniciada e finalizada?
“O Curupira”, disponível no canal MultiRio: https://www.youtube.com/watch?v=QJ1If64uwQU
Gostaria de conhecer mais lendas brasileiras? Acesse:
Série do Professor - Gente Brasileira - Programa 08: Lendas e mitos brasileiros:
ht tp://www.dominiopublico.gov.br/download/som/me000905.mp3
Lendas do Folclore:
ht tps://www.educamaisbrasil.com.br/enem/artes/lendas-do-folclore
Cidade invisível - O folclore brasileiro na tela do NETFLIX | SETE | EP. 28
ht tps://www.youtube.com/watch?v=9OIIbRodGdk
FICHA TÉCNICA
AUTORA: Ana Carolina Oliveira Freitag
Ilustração: Leticia Lippe
Vídeos:
https://youtu.be/1ZgnM-tMGA0
ht tps://www.youtube.com/watch?v=QJ1If64uwQU


Texto: https://docs.google.com/document/d/1DK6NeJjTHm8OOXXkzGnzOXuSnXO22Gzta1gWfZ6o4ew/edit?usp=sharing
Matérias:
ht tp://www.dominiopublico.gov.br/download/som/me000905.mp3
ht tps://www.educamaisbrasil.com.br/enem/artes/lendas-do-folclore
ht tps://www.youtube.com/watch?v=9OIIbRodGdk
AULA:
VAI NO BIXIGA PRA VER!
roteiro didático
Situações de uso
■ Discutir a relação entre memória e história
Expectativa de Aprendizagem
■ Ampliar o conhecimento cultural sobre o samba
■ Compreender textos orais e escritos de memórias
■ Conhecer a história do Brasil para além da história política
■ Refletir sobre o que é memória
■ Compreender e produzir um relato pessoal
Autora: Mariana Soares de Andrade
Para além de um instrumento, a língua é “um símbolo, um modo de identificação, um sistema de produção de significados individuais, sociais e culturais, uma lente através da qual enxergamos a realidade que nos circunda” (MENDES, 2015, p. 219). Partindo dessa concepção, espera-se com esta unidade que o aluno possa conhecer um pouco mais sobre outras narrativas para além da história política de um lugar, bem como entender a importância da preservação da memória de espaços, eventos e práticas de grupos que são continuamente menosprezados dentro da sociedade brasileira. O aluno deve ser estimulado a refletir sobre como grupos hegemônicos podem utilizar do esquecimento e, muitas vezes, da manipulação de memórias para legitimar atitudes que ferem o direito à cidadania e à liberdade de expressão de brasileiros pertencentes a categorias minorizadas. Espera-se, também, que o aluno possa refletir sobre as suas próprias memórias relacionadas à sua cultura e ao seu país, que, embora não sejam “a mais legítima das memórias coletivas, a memória nacional, essas lembranças são transmitidas no quadro familiar, em associações, em redes de sociabilidade afetiva e/ou política” (POLLAK, 1989, p. 8). Não se exclui a possibilidade de que o aluno possa relatar uma memória relacionada à comunidade ou bairro em que vive aqui no Brasil. O título de migrante lhe cabe por ser de outro lugar, mas não diminui, ou não deveria diminuir, o seu pertencimento ao local em que está no presente e não impede que memórias possam ser formadas coletiva ou individualmente.

PARA COMEÇAR
A proposta desta sequência didática é proporcionar uma conversa sobre a construção da história de uma cultura/lugar/povo/grupo por meio da memória que pode estar presente na literatura, na música, na arte, no cinema, no teatro e também nas narrativas individuais. Tem-se como ponto de partida uma discussão sobre música brasileira, com ênfase no samba e em suas características melódicas, poéticas e rítmicas, para que o aluno possa compartilhar seu conhecimento sobre o gênero.

Em um encontro anterior, o professor pode solicitar aos alunos que tragam aparelhos eletrônicos ou instrumentos musicais que tenham em casa para reproduzirem trechos de músicas que porventura conheçam. Essa sugestão de atividade se justifica como uma forma de tentar propor um momento mais descontraído em sala, já que, a partir dela, pode ser suscitada uma reflexão rítmica e melódica do samba. No entanto, o professor não deve perder de vista os objetivos da unidade, que vão além da reflexão sobre os aspectos musicais.
As atividades 2 e 3, por outro lado, visam ampliar o olhar do aluno sobre o gênero. Afinal, o migrante – e, inclusive, brasileiros – pode relacionar o samba apenas ao carnaval e a festas, conhecendo-o pouco como uma forma de cantar a vivência de um grupo social.
Para ampliar esse repertório, foi escolhida a música Tradição, de Geraldo Filme, que retrata as mudanças ocorridas no bairro Bixiga com o processo de urbanização na cidade de São Paulo no início do século XX. Tal processo impactou os grupos minorizados que ali viviam, como indígenas e ex-escravizados, os quais se viram aos poucos obrigados a migrar para outros bairros da cidade, perdendo seus espaços.
A proposta é que o professor trabalhe a canção, em um primeiro momento, sem a sua letra transcrita, para que os alunos prestem atenção em toda a música, não somente na letra, e possam refletir sobre as questões levantadas na atividade 3. Também é importante que o professor estimule os alunos a tentarem entender a temática da música partindo primeiramente de sua compreensão auditiva e não de uma compreensão de leitura.
Os itens (a), (b) e (c) da atividade 4 têm como objetivo explorar os trechos da música transcritos, para que os alunos entendam o processo de mudança no bairro Bixiga que Geraldo Filme canta em sua música e como ele percebe essas mudanças. O item (d) visa ampliar um pouco mais o conhecimento histórico sobre o bairro Bixiga, a fim de demonstrar que o local foi também alvo de concentração de migrantes italianos, e, por isso, há nele uma forte influência da cultura deste povo. É importante o professor salientar a questão de que a presença negra é apagada enquanto a presença italiana é
comumente lembrada e valorada, refletindo com os alunos sobre quais seriam os motivos dessa diferença. Recomenda-se, caso o professor não tenha familiaridade com a história do bairro, que procure saber um pouco mais sobre o assunto.
PARA LER

Como forma de (re)contar a parte da história do Brasil desses grupos, “a história oral ressaltou a importância de memórias subterrâneas que, como parte integrante das culturas minoritárias e dominadas, se opõem à ‘Memória oficial’, no caso a memória nacional” (POLLAK, 1989, p. 4). Essa prática também é encontrada em projetos públicos que compartilham do mesmo objetivo, como é o caso do Inventário Memória Paulistana, que, por meio de placas em pontos representativos da cidade, rememoram um lugar, uma prática, uma pessoa ou um evento que teve seu rastro apagado ao longo dos anos, mas que é de importância para a história da cidade de São Paulo ou para a história do Brasil.
Nesta seção, para a atividade 5, o professor pode dividir os alunos em pequenos grupos para que façam a leitura e discutam entre si antes de compartilhar a opinião com os demais. Alternativamente, pode pedir que um dos alunos leia a notícia em voz alta e que todos respondam às perguntas juntos.
Como o material didático se destina a alunos de um nível mais avançado e o texto é pequeno, com palavras de uso comum, a interpretação pode não ser um grande desafio. No entanto, os sentidos de “memória” são múltiplos. Por isso, as perguntas das letras
(a) e (b) estão direcionadas tanto para explorar os sentidos conhecidos pelos alunos, como também para orientar o entendimento do conceito de memória trabalhado nesta unidade e suas funções. Como explica Pollak (1989, p. 9):
“A memória, essa operação coletiva dos acontecimentos e das interpretações do passado que se quer salvaguardar, se integra [...] em tentativas mais ou menos conscientes de definir e de reforçar sentimentos de pertencimento e fronteiras sociais entre coletividades de tamanhos diferentes: partidos, sindicatos, igrejas, aldeias, regiões, cl ãs, famílias, nações etc.”
As duas últimas perguntas, por sua vez, já requerem um entendimento do que é a memória para o aluno poder imaginar os lugares referenciais que seriam importantes de serem lembrados e se ele conhece algum projeto, público ou não, semelhante.
Nas atividades 6 e 7, além das duas placas presentes no material, o professor pode buscar no Google outros exemplos de memória para mostrar aos alunos ou pedir a eles que, em grupo, busquem exemplos de memórias e expliquem do que se trata e/ ou outras informações que julgarem interessantes. . Na seção “Para saber mais”, estão disponibilizadas algumas sugestões de onde podem ser encontrados relatos e produções culturais.
PARA OUVIR
A atividade proposta nesta seção da unidade didática é direcionada inicialmente para a compreensão auditiva. No entanto, o objetivo é também preparar os alunos para a produção de um relato pessoal. O que foi observado nesse gênero, por Amorim e Henrique (2021), é que há uma situação que origina o fato a ser relatado – um ou mais acontecimentos inesperados – e como o autor da memória se relaciona com esses acontecimentos, podendo ou não haver um desfecho específico.
Logo, as perguntas (a) e (b) da atividade 8 estão direcionadas para que o aluno observe aspectos como: a forma com que a entrevistada conta sua memória, a partir de comparações com o presente, bem como de relatos sobre como aquele acontecimento foi interpretado por ela e pela comunidade do bairro; os sentimentos e emoções que foram evocados com a chegada do asfalto e qual a relação dela com aquele fato. Ao final da compreensão auditiva, o professor pode esquematizar no quadro esses pontos de estabilidade do gênero, observados por Amorim e Henrique (2021), e até pedir que os alunos procurem esses mesmos pontos na canção de Geraldo Filme.

PARA ESQUEMATIZAR
Para dar continuidade às reflexões sobre o gênero, o objetivo desta seção é aproximar o aluno dos elementos linguístico-discursivos mais presentes nele. Assim, os itens (a) e (b) estão voltados para a reflexão sobre os organizadores temporais e conectivos, que são elementos importantes nesse gênero para garantir a conexão dos eventos relatados, indicando passagem de tempo, mudança de fase de uma sequência e como se sucedem os acontecimentos (AMORIM e HENRIQUE, 2021).
O item (c), por outro lado, tem o objetivo de fazer uma reflexão sobre os diferentes usos da palavra “então” no português. Segundo Cavalcante (2018), apesar de “então” ainda ter traços adverbiais, o seu uso como elemento de coesão é predominante. A autora constata que existem oito funções para “então”, distribuídas nos domínios textual e discursivo, sendo que pode estar presente mais de uma função em determinado uso. Nesta atividade, serão trabalhadas apenas as funções do domínio textual, pois são esses que aparecem na fala da entrevistada. No entanto, pode-se comentar com os alunos que “então” também é um marcador discursivo usado para introduzir o turno de fala, para inserir o ponto de vista de quem fala, para organizar o que vai ser dito na sequência e para finalizar o turno de fala.
No domínio textual, as funções são:
(1) sequenciadora, que conecta as partes do texto em uma sequência linear dos fatos;

(2) retomadora, que retoma outras partes textuais para reintroduzir o tópico discursivo;
(3) conclusiva, que expressa uma consequência do que foi dito anteriormente; e
(4) resumitiva, que resume o conteúdo da fala em uma frase com a finalidade de encerrar o tópico.
Exemplificando as funções, temos: (1) Então, foi-se construindo uma relação de amizade. E a gente nem tinha muita ideia. Então, essa amizade foi crescendo com o tempo;
(2) [...] Então, isso é o que eu disse pra ele; (3) Ah, está chovendo. Então, não vamos sair mais;

(4) Então, como eu te disse, o trabalho é muito importante para mim.
Nesse sentido, no item (c), o primeiro uso de “então” possui função retomadora. A entrevistada começa a responder a questão proposta no áudio comentando suas percepções sobre o processo de formação de um bairro. Quando termina esta parte, retoma a pergunta feita para respondê-la. Já o segundo uso de “então” é com função sequenciadora. A entrevistada comenta como era o bairro antes e dá sequência, contando o que aconteceu depois. Por último, o terceiro uso de “então” tem função resumitiva, pois, depois de ter dado detalhes de como foi a recepção do asfalto, a entrevistada resume como foi esse momento para a comunidade. Neste uso, é possível perceber um matiz conclusivo também, já que é a felicidade dos moradores de não se sentirem mais isolados que leva à comemoração.
PARA PRATICAR
Após a discussão desenvolvida ao longo desta unidade, é hora de o aluno voltar para si e suas próprias memórias para contar um fato/momento sobre a história de seu bairro. É muito importante que o professor direcione o aluno a pensar em uma memória que tenha a ver com a história de seu próprio bairro ou de sua rua, mas que também esteja relacionada com a sua própria identidade ou com a identidade da comunidade à qual pertence/pertenceu. Essa memória pode ser do lugar em que o aluno vive atualmente ou pode ser de seu próprio país.
Ainda que a tarefa direcione o aluno a produzir um relato escrito de sua memória, o professor pode propor a atividade a partir de outro(s) gênero(s) textual(ais), como um conto, um poema, etc. Pode-se também dar ao aluno a opção de escolher em qual gênero textual ele quer produzir a sua memória. Se a atividade for proposta como tarefa de casa, pode-se ainda possibilitar uma produção oral, seja ela em vídeo ou áudio, como feito pela entrevistada na seção anterior.
PARA SABER MAIS
Nesta seção, são disponibilizadas, para professores e alunos, outras referências onde podem ser encontrados relatos de memórias em diversos formatos. Essa parte pode ser usada tanto em sala de aula na Atividade 2 da seção “Para Ler”, como servir de base para os alunos produzirem os seus relatos ou ainda como material extra para professores e alunos se aproximarem de memórias de outros grupos. É preciso salientar que outras referências conhecidas pelo professor e/ou pelos alunos podem ser adicionadas a esse pequeno acervo.
REFERÊNCIAS:
AMORIM, N. R. V.; HENRIQUE, M. A. B.. Modelo didático como uma ferramenta para o ensino de escrita do gênero Relato Pessoal. In: CLARABOIA , Jacarezinho/PR, n.15, jan./jun., 2021, p. 69-96.
CAVALCANTE, D. A.. Mapeando multifunções do “então” à luz dos mecanismos motivadores de gramaticalização de Bybee. In: Revista Linguagens & Letramentos, Cajazeiras/PB. v. 3, nº 1, jan./jun., 2018, p. 46-65.
MENDES, E.. A ideia de cultura e sua atualidade para o ensino-aprendizagem de LE/ L2. In: EntreLínguas, Araraquara, v.1, n.2, jul./dez. 2015, p. 203-221.
POLLAK, M.. Memória, esquecimento, silêncio. In: Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 2, n. 3, 1989, p. 3-15.
AULA:

VAI NO BIXIGA PRA VER!
material do professor

PARA COMEÇAR
1. Vamos conversar? Respostas pessoais
■ Você gosta de música brasileira? Quais músicas e/ou artistas você conhece?
■ Você já escutou algum samba? Qual(is)?
2. Agora, observe a imagem abaixo: Respostas pessoais
Imagem: Reprodução/Instagram https://www.instagram.com/p/CMfnJ31FoKJ/
■ Você já tinha visto esse significado da palavra “samba”? Você conhece outros?

■ Como você descreveria o samba em relação à melodia, à letra e à dança?
3. Escute a música “Tradição” de Geraldo Filme https://www.vagalume.com.br/ geraldo-filme/tradicao.html: Respostas pessoais
a. A música se assemelha ao ritmo e à melodia dos sambas que você já escutou?
b. Esse samba parece ser atual ou antigo? Por quê?
c. O que está sendo cantado na música?
4. Observe abaixo alguns trechos da música:
O samba não levanta mais poeira Asfalto hoje cobriu o nosso chão Saudade tenho do nosso cordão Bixiga hoje é só arranha-céu
a. O que você entende por “o samba levantar poeira”?
O samba levantar poeira se relaciona com a celebração dos cordões. Os cordões eram uma forma de festejo semelhante ao que hoje chamamos de blocos de carnaval. Naquela época, o Bixiga não era asfaltado e tinha chão de terra, logo, quando os foliões dos cordões andavam pelas ruas faziam a poeira subir.
b. E, segundo a música, por que o samba não levanta mais poeira?
As mudanças que ocorreram naquele lugar com a chegada do asfalto e dos arranha-céus fizeram com que os cordões parassem de acontecer.
c. O que um arranha-céu pode trazer de mudança em uma cidade?
Nessa resposta, os alunos devem refletir sobre a questão social trazida por um edifício como um arranha-céu. Espera-se que entendam que o processo de urbanização ocorrido no início do século XX em São Paulo impactou a comunidade que ali vivia.
d. Observe abaixo dois trechos de reportagens que falam sobre o bairro Bixiga. Você acha que eles fazem referência à história do bairro que Geraldo Filme narra?
“O bairro foi formado por imigrantes italianos e guarda até hoje muito dessa cultura. Além de concentrar comunidades italianas e diversas tradicionais cantinas que conquistam qualquer amante de comida, […]”
Disponível em: https://www.guiadasemana.com.br/na-cidade/galeria/lugares-em-sp-que-vao-fazer-voce-se-sentir-na-italia
“O bairro foi fundado por imigrantes italianos em 1878, quando Antônio José Leite Braga, o antigo proprietário daquelas terras, decidiu lotear parte do terreno.”
Disponível em: https://catracalivre.com.br/agenda/o-que-fazer-no-bixiga-sp/
PARA LER
5. Leia a notícia abaixo retirada do site da Prefeitura de São Paulo e responda às perguntas: Respostas pessoais

Imagem(fonte): Prefeitura de S ão Paulo (https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/noticias/?p=25528)
a. O que você entende por memória?

b. Como ela pode ser importante para a história de um grupo social?
c. Que tipos de lugares você imagina que deveriam ser lembrados em um projeto como esse?
d. Você conhece algum projeto parecido com esse?
6. Observe abaixo duas placas do Projeto Memória Paulistana: Respostas pessoais
■ A quais tipos de memória você acha que elas se referem? E a quais grupos da sociedade elas pertencem?
Imagens: Facebook/Reprodução ht tps://www.facebook.com/SaoPauloCultura/posts/3467631330004196 ht tps://www.facebook.com/SaoPauloCultura/posts/3137551309678868
7. Para refletir! Respostas pessoais
■ Sob qual perspectiva você acha que a história política de um lugar é contada?
■ Você acha que a memória de um grupo pode diferir da história política de algum lugar? De quais maneiras?


■ Como e onde você acha que podemos encontrar relatos de memória?
PARA OUVIR
8. Agora, você vai escutar um áudio, que é um trecho de uma entrevista do podcast “De onde eu vim”, em que a mineira, Adriane Gonçalves, conta um pouco da memória que ela tem relacionada ao seu bairro. Escute o áudio (https://youtu.be/N4_28HEACa4) e responda às perguntas:

a. Onde a entrevistada mora? O bairro dela fica próximo ao centro da cidade?
Ela mora no bairro Santos Dumont, em Governador Valadares/MG. Esse bairro é distante do centro da cidade.
b. Ela conta que existe uma diferença em como os bairros se formavam no passado e como eles se formam hoje. Qual é essa diferença?
Segundo a entrevistada, antes os bairros iam se desenvolvendo à medida que aumentava o número de moradores em um dado local. Hoje, por outro lado, primeiro os bairros são planejados e aos poucos vão sendo habitados pelos moradores.
c. Qual é a memória que ela conta? Quais sentimentos ela relaciona a essa memória?
Ela conta sobre quando o bairro foi calçado e das melhorias que o calçamento trouxe, como o transporte público que passou a circular pela região. Ela associa essa memória a sentimentos de pertencimento ao lugar e felicidade.
d. Por que você acha que ela compara esses acontecimentos a festividades tradicionais do Brasil como o carnaval e o natal? Resposta pessoal
PARA ESQUEMATIZAR
9. Leia abaixo uma parte do relato anterior transcrito e responda às perguntas:
“[…] E o nascimento de um bairro, ele é uma coisa muito interessante porque há um tempo atrás os bairros nasciam simplesmente pelo fato de as pessoas começarem a morar naquele lugar e ele vai povoando, né. Não tinha infraestrutura. O que não acontece hoje em dia. É obrigatório essa infraestrutura. (1) Então, a memória que eu guardo assim com muito carinho, porque ela diz muito sobre o bairro, é que o bairro aqui ele não tinha calçamento, então, era um bairro de terra, né. A gente precisava sair e precisava ir no outro bairro pra poder pegar o transporte coletivo.
(2) Então, uma memória bem legal, que eu acho, seria essa porque quando calçaram o bairro e logo após, né, o advento do transporte coletivo, as pessoas entraram em festa, né. Porque foi um sentimento assim de pertencimento: ‘Agora, a gente pertence a esse lugar’. Sem contar o ir e vir, né. A facilidade de locomoção, né. A gente já não (se) sentia mais isolado. (3) Então, foi uma festa, foi um sentimento coletivo de realmente pertencer porque até então é como se a gente (es) tivesse isolado, perdido [...]”.
a. Procure no texto palavras ou expressões que indiquem marcação de tempo. Depois, procure sinônimos para essas palavras.
Há um tempo atrás: antes, antigamente; hoje em dia: atualmente; logo após: em seguida; até então: até aquele momento.

b Os conectivos têm a função de organizar a relação entre as ideias presentes em um texto e também estabelecer um encadeamento entre as suas partes. Observe que a palavra “então”, que está em negrito no texto, é usada como conectivo. Qual relação ela estabelece entre as sentenças que conecta? Por qual outro conectivo poderíamos substituí-la?
Nesse caso, “então ” estabelece relação de conclusão/consequência, pois, se o bairro não tinha calçamento, logo, ele tinha chão de terra. Pode ser substituído por “logo” ou “portanto”.
c. Agora, volte ao texto mais uma vez e observe os outros momentos em que a palavra “então” foi usada. Relacione os usos (1), (2) e (3) com os sentidos abaixo:
Resumitivo: que resume o conteúdo da fala em uma frase com a finalidade de encerrar
PARA PRATICAR
Imagine que você foi convidado a participar do projeto “Entre memórias e esquecimentos: eu também faço parte da história” que será publicado na página do facebook do projeto PBMIH. Escreva um texto contando sobre alguma memória do bairro em que você nasceu ou do bairro em que você vive atualmente com a qual você e/ou sua comunidade tenham ligação.
PARA SABER MAIS
Abaixo, você encontra algumas referências de memórias em formatos diferentes:
■ Memórias de brincadeiras da infância: http://www.usp.br/memorias/brincadeiras. php?cat=&subcat=&nome=&Submit2=Buscar

■ Coleções de passagem: http://memorialvale.com.br/virtual/colecoes-de-passagem/
■ Ngomas: http://memorialvale.com.br/virtual/ngomas/
■ Entramos nesta casa com a bandeira na frente: http://memorialvale.com.br/virtual/entramos-nesta-casa-com-a-bandeira-na-frente/

■ Memorial da Resistência de São Paulo: http://memorialdaresistenciasp.org.br/
■ Seção Errâncias Afetivas da Revista Tom: https://issuu.com/tom_ufpr/docs/tom7
FICHA TÉCNICA
AUTORA: Mariana Soares de Andrade
Imagens:
https://www.instagram.com/p/CMfnJ31FoKJ/
ht tps://www.facebook.com/SaoPauloCultura/posts/3467631330004196
ht tps://www.facebook.com/SaoPauloCultura/posts/3137551309678868
Imagens:
https://youtu.be/N4_28HEACa4
Notícia:
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/noticias/?p=25528
VAI NO BIXIGA PRA VER!
PARA COMEÇAR
1. Vamos conversar?
■ Você gosta de música brasileira? Quais músicas e/ou artistas você conhece?
■ Você já escutou algum samba? Qual(is)?
2. Agora, observe a imagem abaixo:


Imagem: Reprodução/Instagram https://www.instagram.com/p/CMfnJ31FoKJ/
■ Você já tinha visto esse significado da palavra “samba”? Você conhece outros?
■ Como você descreveria o samba em relação à melodia, à letra e à dança?

3. Escute a música “Tradição” de Geraldo Filme https://www.vagalume.com.br/ geraldo-filme/tradicao.html:
a. A música se assemelha ao ritmo e à melodia dos sambas que você já escutou?
b. Esse samba parece ser atual ou antigo? Por quê?
c. O que está sendo cantado na música?
4. Observe abaixo alguns trechos da música:
O samba não levanta mais poeira Asfalto hoje cobriu o nosso chão Saudade tenho do nosso cordão Bixiga hoje é só arranha-céu
a. O que você entende por “o samba levantar poeira”?
b. E, segundo a música, por que o samba não levanta mais poeira?
c. O que um arranha-céu pode trazer de mudança em uma cidade?
d. Observe abaixo dois trechos de reportagens que falam sobre o bairro Bixiga. Você acha que eles fazem referência à história do bairro que Geraldo Filme narra?
“O bairro foi formado por imigrantes italianos e guarda até hoje muito dessa cultura. Além de concentrar comunidades italianas e diversas tradicionais cantinas que conquistam qualquer amante de comida, […]”
Disponível em: https://www.guiadasemana.com.br/na-cidade/galeria/lugares-em-sp-que-vao-fazer-voce-se-sentir-na-italia
“O bairro foi fundado por imigrantes italianos em 1878, quando Antônio José Leite Braga, o antigo proprietário daquelas terras, decidiu lotear parte do terreno.”
Disponível em: https://catracalivre.com.br/agenda/o-que-fazer-no-bixiga-sp/
PARA LER
5. Leia a notícia abaixo retirada do site da Prefeitura de São Paulo e responda às perguntas:

Imagem(fonte): Prefeitura de S ão Paulo (https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/noticias/?p=25528)
a. O que você entende por memória?
b. Como ela pode ser importante para a história de um grupo social?

c. Que tipos de lugares você imagina que deveriam ser lembrados em um projeto como esse?
d. Você conhece algum projeto parecido com esse?
6. Observe abaixo duas placas do Projeto Memória Paulistana:

■ A quais tipos de memória você acha que elas se referem? E a quais grupos da sociedade elas pertencem?
Imagens: Facebook/Reprodução ht tps://www.facebook.com/SaoPauloCultura/posts/3137551309678868 ht tps://www.facebook.com/SaoPauloCultura/posts/3467631330004196
7. Para refletir!
■ Sob qual perspectiva você acha que a história política de um lugar é contada?
■ Você acha que a memória de um grupo pode diferir da história política de algum lugar? De quais maneiras?
■ Como e onde você acha que podemos encontrar relatos de memória?

PARA OUVIR
8. Agora, você vai escutar um áudio, que é um trecho de uma entrevista do podcast “De onde eu vim”, em que a mineira, Adriane Gonçalves, conta um pouco da memória que ela tem relacionada ao seu bairro. Escute o áudio (https://youtu.be/ N4_28HEACa4) e responda às perguntas:


a. Onde a entrevistada mora? O bairro dela fica próximo ao centro da cidade?
b. Ela conta que existe uma diferença em como os bairros se formavam no passado e como eles se formam hoje. Qual é essa diferença?
c. Qual é a memória que ela conta? Quais sentimentos ela relaciona a essa memória?
d. Por que você acha que ela compara esses acontecimentos a festividades tradicionais do Brasil como o carnaval e o natal?
PARA ESQUEMATIZAR
9. Leia abaixo uma parte do relato anterior transcrito e responda às perguntas:
“[…] E o nascimento de um bairro, ele é uma coisa muito interessante porque há um tempo atrás os bairros nasciam simplesmente pelo fato de as pessoas começarem a morar naquele lugar e ele vai povoando, né. Não tinha infraestrutura. O que não acontece hoje em dia. É obrigatório essa infraestrutura. (1) Então, a memória que eu guardo assim com muito carinho, porque ela diz muito sobre o bairro, é que o bairro aqui ele não tinha calçamento, então, era um bairro de terra, né. A gente precisava sair e precisava ir no outro bairro pra poder pegar o transporte coletivo.
(2) Então, uma memória bem legal, que eu acho, seria essa porque quando calçaram o bairro e logo após, né, o advento do transporte coletivo, as pessoas entraram em festa, né. Porque foi um sentimento assim de pertencimento: ‘Agora, a gente pertence a esse lugar’. Sem contar o ir e vir, né. A facilidade de locomoção,
né. A gente já não (se) sentia mais isolado. (3) Então, foi uma festa, foi um sentimento coletivo de realmente pertencer porque até então é como se a gente (es) tivesse isolado, perdido [...]”.
a. Procure no texto palavras ou expressões que indiquem marcação de tempo. Depois, procure sinônimos para essas palavras.
b. Os conectivos têm a função de organizar a relação entre as ideias presentes em um texto e também estabelecer um encadeamento entre as suas partes. Observe que a palavra “então”, que está em negrito no texto, é usada como conectivo. Qual relação ela estabelece entre as sentenças que conecta? Por qual outro conectivo poderíamos substituí-la?
c. Agora, volte ao texto mais uma vez e observe os outros momentos em que a palavra “então” foi usada. Relacione os usos (1), (2) e (3) com os sentidos abaixo:
Resumitivo: que resume o conteúdo da fala em uma frase com a finalidade de encerrar o tópico
Sequenciador: que conecta partes do texto em uma sequência linear dos fatos
Retomador: que retoma outras partes textuais para reintroduzir o tópico discursivo
PARA PRATICAR
Imagine que você foi convidado a participar do projeto “Entre memórias e esquecimentos: eu também faço parte da história” que será publicado na página do facebook do projeto PBMIH. Escreva um texto contando sobre alguma memória do bairro em que você nasceu ou do bairro em que você vive atualmente com a qual você e/ou sua comunidade tenham ligação.

PARA SABER MAIS
Abaixo, você encontra algumas referências de memórias em formatos diferentes:
■ Memórias de brincadeiras da infância: http://www.usp.br/memorias/brincadeiras. php?cat=&subcat=&nome=&Submit2=Buscar
■ Coleções de passagem: http://memorialvale.com.br/virtual/colecoes-de-passagem/
■ Ngomas: http://memorialvale.com.br/virtual/ngomas/

■ Entramos nesta casa com a bandeira na frente: http://memorialvale.com.br/virtual/entramos-nesta-casa-com-a-bandeira-na-frente/
■ Memorial da Resistência de São Paulo: http://memorialdaresistenciasp.org.br/
■ Seção Errâncias Afetivas da Revista Tom: https://issuu.com/tom_ufpr/docs/tom7
FICHA TÉCNICA
AUTORA: Mariana Soares de Andrade
Imagens:
https://www.instagram.com/p/CMfnJ31FoKJ/
ht tps://www.facebook.com/SaoPauloCultura/posts/3467631330004196
ht tps://www.facebook.com/SaoPauloCultura/posts/3137551309678868
Imagens:
https://youtu.be/N4_28HEACa4
Notícia:
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/noticias/?p=25528
ANOTAÇÕES


AULA:
OFICINA DE COLAGEM
roteiro didático
Situações de uso
■ Realizar uma colagem com base no tema “mulheres inspiradoras”.
Objetivos
■ Conhecer a biografia de mulheres, valorizando suas trajetórias em relação às vivências pessoais das/dos estudantes e/ou às narrativas históricas de seus países.
■ Aprender e exercitar a técnica da colagem.
Autoras: Cláudia R. H. Zacar, Isabelle Borowski, Julia Santos Barros, Letícia Leonor Brandão Costa
As atividades a serem desenvolvidas são relativas à produção de colagens a partir do perfil e de imagens de mulheres dos países de origem das/dos participantes.
A técnica de colagem tem como vantagem o fato de não exigir treinamento prévio ou materiais de difícil acesso, permitindo sua organização de forma presencial ou remota. A técnica permite a expressão artística livre ou direcionada por uma temática.

Neste caso, o tema “mulheres inspiradoras” foi definido tendo em vista a importância das representações para os processos de constituição e manutenção de identidades sociais (HALL, 2016), e visando estreitar os laços dos/das participantes com a história de seus países e/ou com memórias ligadas às suas relações pessoais.
Além disso, o tema permite reforçar a importância das mulheres na história, ampliando a visibilidade de suas lutas e conquistas. Assim, ele parte de um posicionamento político que reconhece o fato de que por muito tempo as narrativas historiográficas convencionais ocultaram as mulheres e suas trajetórias (SCOTT, 1992).
PARA COMEÇAR
Nesta seção, introduza a proposta da atividade e promova o diálogo sobre o tema. Você pode começar apresentando o perfil de uma mulher brasileira que seja importante para você ou para a história do país. As perguntas sugeridas visam estimular a reflexão sobre a importância de mulheres para as trajetórias individuais e coletivas, servindo também como forma de identificação de nomes de mulheres que poderão ser enfocadas nas colagens.
Caso a oficina seja realizada de forma presencial, esta introdução pode ser feita em um primeiro encontro, com duração de cerca de uma hora. Caso a oficina seja executada de forma remota, recomenda-se que a introdução da atividade seja feita em um encontro síncrono. Para tanto, sugere-se o agendamento e envio prévio de link para reunião, por aplicativo de mensagens. O encontro pode ocorrer em um aplicativo de videochamadas, com duração de cerca de uma hora. Neste caso, é importante dar orientações quanto à dinâmica do encontro, solicitando que, se possível, as/os participantes deixem a câmera ligada e o microfone desligado (ativando-o somente no seu momento de falar).
Após esse primeiro encontro, é preciso definir como será o acesso das/dos participantes às imagens das mulheres inspiradoras que serão o foco das colagens. Há três caminhos:
1. Solicitar que cada participante providencie uma fotografia da mulher que escolher para compor a colagem (pode ser alguém próximo ou que tenha notoriedade no seu país de origem).
2. A partir dos nomes mencionados pelos/pelas participantes e/ou com base em pesquisas realizadas por você, montar e imprimir fichas que contenham uma fotografia e minibiografia de cada mulher. Você pode encontrar um modelo para essas fichas em: https://tinyurl.com/3jnc3w3a.
3. Utilizar as fichas prontas disponibilizadas em: https://tinyurl.com/svmy4sr7. Elas contemplam os perfis de uma haitiana, uma palestina e uma venezuelana.
O caminho 1 pode ser mais adequado no caso de realização da oficina de forma remota, e os caminhos 2 e 3 podem ser explorados com mais facilidade no formato presencial.

PARA ASSISTIR



Nesta seção, as/os participantes deverão assistir ao vídeo disponível em https://www. youtube.com/watch?v=zt8mdcz8mkI. Na primeira parte do vídeo são dadas orientações gerais sobre os materiais necessários e como organizar o espaço. Também são mostrados exemplos de colagens e destacados alguns aspectos que podem ser explorados por meio da técnica. Na segunda parte é apresentado o passo a passo do processo de colagem.
Caso a oficina seja realizada de forma presencial, essa etapa pode ser conduzida no segundo encontro, com duração de cerca de 15 minutos. Você pode complementar o vídeo apresentando outros exemplos que julgar pertinentes, inclusive uma colagem feita por você. Caso a oficina seja realizada de forma remota, essa etapa pode ser feita de forma assíncrona.
PARA ESQUEMATIZAR
As perguntas relativas à parte 1 do vídeo visam auxiliar na fixação do conteúdo, verificar a compreensão das instruções orais e exercitar a escrita. O exercício proposto em relação à parte 2 do vídeo visa exercitar a leitura e a compreensão das instruções fornecidas oralmente. Ele também visa facilitar a posterior execução da colagem, servindo como um guia que descreve de forma sucinta as principais etapas do processo. Se desejado, é possível incluir questões adicionais visando o aprofundamento de conteúdos linguísticos (por exemplo, abordando o uso do passado ou do presente a partir das biografias das mulheres selecionadas para inspirar as colagens).
Caso a oficina seja realizada de forma presencial, essa etapa pode ser aplicada no segundo encontro, com duração de cerca de 15 minutos. Caso a oficina seja realizada de forma remota, essa etapa pode ser feita de forma assíncrona.
PARA PRATICAR
Tendo em vista as orientações do vídeo, as/os participantes devem realizar as colagens. Sugere-se a realização prévia de uma colagem com tema livre, para as/os participantes se familiarizarem com a técnica. Essa etapa não é obrigatória, mas pode ajudar a conferir mais confiança para a elaboração da colagem com o tema “mulheres inspiradoras”. Na sequência, há perguntas voltadas para avaliar a atividade, tendo em vista a temática e a técnica propostas, bem como identificar potenciais melhorias para aplicações futuras.
Caso a oficina seja conduzida de forma presencial, essa etapa pode ser feita no segundo encontro, com duração de cerca de 40 minutos para a realização das colagens e 20 minutos para a avaliação da atividade. Caso a oficina seja realizada de forma remota,
a execução das colagens pode ser feita de forma assíncrona. Neste caso, sugere-se que seja feito um acompanhamento da atividade de forma assíncrona, com o envio de mensagens de texto e/ou áudio em aplicativo de mensagens. Desta forma, é possível sanar eventuais dúvidas e perguntar sobre o desenvolvimento do trabalho. Recomenda-se que a avaliação da atividade seja feita em um encontro síncrono. Para tanto, sugere-se o agendamento e envio prévio de link para reunião, por aplicativo de mensagens. O encontro pode ocorrer em um aplicativo de videochamadas, com duração de cerca de 40 minutos. Neste caso, é importante reforçar as orientações quanto à dinâmica do encontro, solicitando que, se possível, as/os participantes deixem a câmera ligada e os microfone desligado (ativando-o somente no seu momento de falar).
Materiais necessários
■ Papel A4 grosso, para a base da colagem (papelão, papel cartão, cartolina, sulfite de gramatura 120 g/m² ou mais).
■ Revistas, jornais e papéis coloridos.
■ Tesoura.
■ Cola (pode ser usada cola branca, que promove melhor fixação, mas é mais difícil de espalhar; ou cola em bastão, que é mais fácil de aplicar, mas apresenta menor durabilidade e adesão).
■ Pincel (apenas se for usada a cola branca).
■ Lápis de cor e/ou canetinhas coloridas.
■ Fotografia de mulheres inspiradoras e/ou fichas impressas com sua fotografia e minibiografia (ver observação no final da seção Para começar).
■ Pasta A4.
Caso a oficina seja realizada de forma remota, é necessário que as/os participantes tenham acesso a um dispositivo com internet (celular, tablet ou computador) e aplicativo para troca de mensagens e realização de chamada em vídeo.
Exposição
Recomenda-se a exposição das colagens produzidas, seja de forma digital ou física. No caso da exposição digital, é possível montar um perfil em rede social ou compartilhar fotos das colagens por meio de aplicativo de mensagens. No caso de exposição física, sugere-se a fixação das colagens em paredes de espaços de circulação da instituição de ensino. Em ambos os casos, é interessante que as colagens sejam acompanhadas de uma legenda contendo o título da obra (se houver), a técnica (colagem), o ano de produção, o nome completo e uma pequena biografia do/da autor/a.
PARA SABER MAIS
■ Sobre a relação da técnica de colagem com a história da arte
COLAGEM. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira. São Paulo: Itaú Cultural, 2021. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo369/colagem>. Acesso em: 21 de outubro de 2021. Verbete da Enciclopédia.
■ Sobre composição e conceitos relacionados
DONDIS, Donis A. A sintaxe da imagem. São Paulo: Martins Fontes, 1991.
Perfil no instagram: @designdesuperficies
REFERÊNCIAS
HALL, Stuart. Cultura e representação. Rio de Janeiro: Apicuri/PUC-Rio, 2016.
SCOTT, Joan. História das mulheres. In: BURKE, Peter (org). A escrita da história: novas perspectivas. São Paulo: UNESP, 1992.
OFICINA DE COLAGEM

PARA COMEÇAR
Nesta atividade, vamos desenvolver uma colagem a partir do tema “mulheres inspiradoras”. Diversas mulheres se tornam importantes em nossas vidas e algumas delas podem se tornar inspirações para nós, por admirarmos suas ideias e ações. Essas fontes de inspiração podem ser mulheres que fazem parte do nosso cotidiano, como familiares, parceiras e amigas. Podem também ser mulheres que não conhecemos pessoalmente, mas que acompanhamos pelas mídias, tais como artistas, ativistas e representantes na esfera política.

Conte para seus/suas colegas sobre:
a. Uma mulher importante para a sua trajetória pessoal. Resposta livre.
b. Uma mulher importante para a história do seu país. Resposta livre.
PARA ASSISTIR
Agora que já refletimos um pouco sobre o tema “mulheres inspiradoras”, assista o vídeo “Oficina de colagem” disponível no link: https://www.youtube.com/watch?v=zt8mdcz8mkI

PARA ESQUEMATIZAR
Com base na parte 1 do vídeo, responda:


a. Como organizar o ambiente para fazer a colagem?
Utilizar uma mesa com boa iluminação para colocar os materiais.
b. Que materiais são necessários para fazer a colagem?
Pasta, papel colorido, papel branco, lápis de cor, páginas de revista, tesoura, cola em bastão, ficha sobre mulher inspiradora.
c. Que elementos podem ser usados para fazer a colagem?
Imagens e fundos de imagens recortadas de revistas, letras recortadas de revistas, formas recortadas de papéis coloridos, desenhos.
Com base na parte 2 do vídeo, indique a ordem das principais etapas do processo de colagem:
(6 ) Deixar a cola secar e guardar a colagem.
(2 ) Selecionar e recortar palavras, imagens, figuras e formas interessantes a partir de revistas, jornais e papéis.
(1) Escolher a mulher inspiradora que será tema da colagem.
(5 ) Colar os recortes de papel, com base na foto.
(4 ) Tirar foto da composição.
(3) Montar a composição, testando diferentes posições para as imagens, formas e textos recortados.
PARA PRATICAR
Realize a colagem conforme as orientações da parte 2 do vídeo.
Se preferir, antes de fazer a colagem com o tema “mulheres inspiradoras”, você pode fazer uma primeira colagem de teste, recortando livremente formas e figuras das revistas e colando-as em um papel. Com isso, você pode se familiarizar com o processo e partir para a próxima colagem com mais confiança!
Para finalizar, responda às seguintes perguntas:
1. O que você achou do tema “mulheres inspiradoras”? Resposta livre.
2. O que você achou da atividade de colagem? Resposta livre.
3. Você teve alguma dificuldade em relação à atividade de colagem? Se sim, qual? Resposta livre.
PARA SABER MAIS
MAGALHÃES, Renata. Colagem volta a atrair artistas, ganha novos adeptos e invade as redes. Veja Rio, 18 set. 2020. Disponível em: <https://vejario.abril.com.br/cidade/colagem-tecnica/>. Acesso em: 28 out. 2021.
Perfis no Instagram para referências de colagens físicas e digitais:
@lua.nacrvlh
@colagemruim
@marcelekeny
@ateliedomato
FICHA TÉCNICA
AUTORAS: Cláudia R. H. Zacar, Isabelle Borowski, Julia Santos Barros, Letícia Leonor Brandão Costa
Vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=zt8mdcz8mkI
Matéria:

https://vejario.abril.com.br/cidade/colagem-tecnica/
Perfis mencionados:
@lua.nacrvlh
@colagemruim
@marcelekeny
@ateliedomato
AULA:
OFICINA DE COLAGEM
material do aluno

PARA COMEÇAR
Nesta atividade, vamos desenvolver uma colagem a partir do tema “mulheres inspiradoras”. Diversas mulheres se tornam importantes em nossas vidas e algumas delas podem se tornar inspirações para nós, por admirarmos suas ideias e ações. Essas fontes de inspiração podem ser mulheres que fazem parte do nosso cotidiano, como familiares, parceiras e amigas. Podem também ser mulheres que não conhecemos pessoalmente, mas que acompanhamos pelas mídias, tais como artistas, ativistas e representantes na esfera política.
Conte para seus/suas colegas sobre:
a. Uma mulher importante para a sua trajetória pessoal.
b. Uma mulher importante para a história do seu país.
PARA ASSISTIR

Agora que já refletimos um pouco sobre o tema “mulheres inspiradoras”, assista o vídeo “Oficina de colagem” disponível no link: https://www.youtube.com/watch?v=zt8mdcz8mkI

PARA ESQUEMATIZAR
Com base na parte 1 do vídeo, responda:


a. Como organizar o ambiente para fazer a colagem?
b. Que materiais são necessários para fazer a colagem?
c. Que elementos podem ser usados para fazer a colagem?
Com base na parte 2 do vídeo, indique a ordem das principais etapas do processo de colagem:
( ) Deixar a cola secar e guardar a colagem.
( ) Selecionar e recortar palavras, imagens, figuras e formas interessantes a partir de revistas, jornais e papéis.
( ) Escolher a mulher inspiradora que será tema da colagem.
( ) Colar os recortes de papel, com base na foto.
( ) Tirar foto da composição.
( ) Montar a composição, testando diferentes posições para as imagens, formas e textos recortados.
PARA PRATICAR
Realize a colagem conforme as orientações da parte 2 do vídeo.
Se preferir, antes de fazer a colagem com o tema “mulheres inspiradoras”, você pode fazer uma primeira colagem de teste, recortando livremente formas e figuras das revistas e colando-as em um papel. Com isso, você pode se familiarizar com o processo e partir para a próxima colagem com mais confiança!
Para finalizar, responda às seguintes perguntas:
1. O que você achou do tema “mulheres inspiradoras”?
2. O que você achou da atividade de colagem?
3. Você teve alguma dificuldade em relação à atividade de colagem? Se sim, qual?
PARA SABER MAIS
MAGALHÃES, Renata. Colagem volta a atrair artistas, ganha novos adeptos e invade as redes. Veja Rio, 18 set. 2020. Disponível em: <https://vejario.abril.com.br/cidade/colagem-tecnica/>. Acesso em: 28 out. 2021.
Perfis no Instagram para referências de colagens físicas e digitais:
@lua.nacrvlh
@colagemruim
@marcelekeny
@ateliedomato
FICHA TÉCNICA
AUTORAS: Cláudia R. H. Zacar, Isabelle Borowski, Julia Santos Barros, Letícia Leonor Brandão Costa
Vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=zt8mdcz8mkI
Matéria:

https://vejario.abril.com.br/cidade/colagem-tecnica/
Perfis mencionados:
@lua.nacrvlh
@colagemruim
@marcelekeny
@ateliedomato
ENCONTRO ONLINE COM CRIANÇAS MIGRANTES
Faixa etária
■ De 6 a 10 anos
Situações de uso
■ Realizar atividades online com crianças migrantes
Objetivos
■ Manter o vínculo com as crianças participantes do projeto de extensão durante a pandemia de Covid-19;
■ Oportunizar espaço de fala e escuta para as crianças;
■ Empregar diferentes recursos artísticos para a elaboração de ações;
■ Possibilitar a produção de desenhos sobre os temas das oficinas.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Desde 2017, o projeto Pequenos do Mundo desenvolve ações específicas com crianças migrantes, refugiadas e solicitantes de refúgio, cujos pais frequentam as aulas de português brasileiro, oferecidas pelo projeto de extensão Português Brasileiro para Migração Humanitária (PBMIH) da UFPR. Até 2019, participaram em torno de 95 crianças de diferentes países: Venezuela, Haiti, Colômbia, Síria, Egito, Nigéria, Irã, Peru, Iêmen, Líbano, Líbia, Bolívia, República Democrática do Congo e Benin. O projeto é composto por uma equipe interdisciplinar, da qual atualmente participam docentes, discentes e profissionais das áreas de Psicologia, Letras, Artes Cênicas e Design.
A metodologia de trabalho no Pequenos do Mundo é baseada em diferentes expressões artísticas — literatura, artes visuais, música, poesia, etc. —, como recurso fundamental de elaboração de ações. A partir dos pressupostos da Psicologia Histórico-Cul-
tural, compreendemos que as produções artísticas contribuem para o processo de educação dos sentidos, potencializam o processo criativo, além de ampliarem experiências que extrapolam a realidade cotidiana.
Conforme apontam Nascimento e Pasqualini (2016), a arte não se reduz a expressar uma ideia ou sentimento, mas tem a potência de instigar novas possibilidades de sentir e de compreender a vida. Neste sentido, ao expor as contradições da realidade humana, representando-a em seus aspectos essenciais, a arte possui papel formativo ao mobilizar aspectos cognitivos e afetivos, humanizar os sentidos, complexificar a sensibilidade e ressignificar as experiências e vivências (ABRANTES, 2016).
Em nosso trabalho, como apontam Tsiflidis (2021), Salomão (2020) e Osman (2020), a literatura infantil por meio das contações de histórias ganha destaque. Concordamos com Abrantes (2011) quando salienta que as histórias literárias infantis apresentam a realidade de forma imaginativa, mas que os conhecimentos e as situações presentes se organizam e são expostos a partir de contradições reais da existência humana.
No entanto, não é qualquer história sobre o tema eleito que serve para a atividade, já que é fundamental a análise do conteúdo e da forma. Assim, na curadoria das obras, devemos nos ater, por exemplo, ao enredo e aos argumentos apresentados, aos julgamentos e valores morais presentes, bem como à elaboração da escrita e das ilustrações. Além disso, as contações devem ser realizadas de maneira lúdica e interativa, a fim de promover uma vinculação afetiva com a história (ABRANTES, 2016), assim como a compreensão em diversas faixas etárias e níveis de apreensão do português brasileiro.
Sob tais pressupostos, no Pequenos do Mundo almejamos proporcionar à criança um espaço de trocas e de expressão das vivências da infância e da sua relação com a migração (SILVA et al., 2021). Para tanto, entendemos que as produções materiais, visuais e simbólicas — como desenho, escultura, colagens e pinturas — , as quais envolvem um processo de criação, são recursos valiosos para a expressão da criança.
Tais princípios nortearam a elaboração de projetos vinculados às demandas da comunidade (SILVA et al., 2021). A título de exemplo, em 2018, desenvolvemos a ação “Autorretrato”, cujo objetivo era apresentar às crianças modalidades artísticas e produções culturais de diversos países e épocas, visando explorar sua autoimagem e a pluralidade do grupo (SALOMÃO et al., 2018). Em 2019, iniciamos a ação “Contando Histórias, Resgatando Memórias”, que teve como objetivo tanto o resgate das memórias das crianças e de suas famílias acerca dos percursos e aspectos culturais do país de origem — brincadeiras, alimentação, cantigas e histórias —, como a criação do “Livro de Memórias” e da “Caixa de Memórias” das crianças (SILVA et al., 2021).
No início de 2020, diante da pandemia de COVID-19, as atividades presenciais da UFPR foram suspensas. Ainda assim, os integrantes do projeto continuaram a se encontrar semanalmente em supervisões virtuais para (re)pensar possibilidades de manter o vínculo com as crianças participantes e suas famílias. Para tanto, inicialmente foi criado um grupo no WhatsApp com as famílias das crianças participantes para compartilhar
materiais informativos1 a respeito da pandemia que vinham sendo produzidos pelo PBMIH.
Conforme o grupo se reorganizou frente à nova realidade, os vídeos de contação de histórias surgiram como possibilidade de manutenção do vínculo com as crianças e também como ferramenta para continuar o trabalho que visa à promoção do desenvolvimento através da arte (TSIFLIDIS, 2021). Organizou-se, então, uma metodologia própria para a criação de vídeo-histórias através da curadoria das histórias a serem contadas, cujas escolhas se davam a partir de alguns critérios: “[...] como histórias que retratavam o cotidiano das crianças, histórias que fossem clássicas e importantes dentro de um cânone e histórias que não tivessem um fundo moral ou cunho religioso” (TSIFLIDIS, 2021, p. 23). Depois desta curadoria, pensava-se na forma com que a história seria contada e nos recursos que seriam utilizados na contação. Gravada, editada e legendada, a vídeo-história era postada no canal do YouTube2 do projeto, acompanhada de um pequeno texto sobre a história e os créditos da equipe. O link de acesso à vídeo-história era enviado no grupo do WhatsApp.
As contações de histórias através do vídeo possibilitaram a manutenção do vínculo e o estreitamento dos laços com as crianças e as famílias, além de permitirem a idealização e realização de encontros online dos Pequenos do Mundo em junho e novembro de 2021.
OFICINA 1 — SOBRE APRENDIZAGENS E SENTIMENTOS
Para a realização do encontro, sugere-se o envio antecipado de convite — em formato de vídeo e/ou mensagem escrita — indicando dia, horário e plataforma. Além disso, propõe-se que cada criança, se assim desejar, desenhe o que aprendeu durante a pandemia para apresentar no dia do encontro. Este encontro objetiva possibilitar que a criança expresse atividades ou conceitos que aprendeu durante o período em casa e os sentimentos vividos no período de quarentena.
Para dar início ao encontro virtual, alguém da equipe de organização fará a abertura, saudando as crianças e familiares. Após, todos devem se apresentar, dizendo o seu nome e idade. Em seguida, outra pessoa fará uma dinâmica para preparar as crianças para o início das atividades. A título de exemplo, originalmente, uma das integrantes do projeto pediu para as crianças fecharem os olhos e relembrarem os encontros na universidade — chegada, atividades, lanche e brincadeiras.
1. Os materiais informativos podem ser acessados em: https://www.pbmihufpr.com/blog
2. Canal do YouTube do Projeto Pequenos do Mundo disponível em: https://youtube.com/channel/UC4pXzHrdNkDmx88T5g2LK3A
Após, são apresentadas e discutidas as regras do encontro. Pede-se, então, que todos mantenham os microfones desligados, ativando-o somente quando forem falar, e explica-se o recurso de levantar a mão. Depois de explicadas as regras gerais, pergunta-se às crianças se têm outras dicas e sugestões para o bom andamento do encontro.
A seguir, recomenda-se a contação ao vivo, por um dos integrantes, da história selecionada para o encontro. Caso não seja possível, pode ser utilizado um vídeo previamente gravado ou disponibilizado na internet. O objetivo dessa contação é discutir os diferentes sentimentos com o auxílio da obra Dicionário Ilustrado dos sentimentos, escrito por Fernanda Salgueiro e ilustrado por André Mendes. Inspirando-se na contação e na mediação da equipe, pede-se que cada criança, na sua vez, faça uma careta que represente o sentimento mais recorrente durante a pandemia, ao passo que as demais crianças tentarão adivinhar qual sentimento está sendo representado. Para encerrar esse momento, sugere-se a todos os presentes que façam uma careta com feição brava e depois suavizem aos poucos, passando por um sorriso até chegar a uma gargalhada.
Para finalizar, recomenda-se solicitar às crianças que mostrem os desenhos que confeccionaram sobre o que aprenderam na pandemia e falem a respeito deles, se assim o desejarem.
Os materiais necessários serão: folha de papel sulfite em formato A4, lápis de cor, canetinha, livro selecionado.
OFICINA 2 — VOLTA AO MUNDO
Sob o escopo da nossa atuação com crianças migrantes, este encontro objetiva apresentar e discutir curiosidades e aspectos culturais dos países de origem das crianças participantes do projeto. Logo, os diálogos serão direcionados para questões específicas atinentes à migração.
Tal como no primeiro encontro, sugere-se o envio antecipado de convite — em formato de vídeo e/ou mensagem escrita — indicando dia, horário e plataforma. Além disso, solicita-se que a criança faça um desenho sobre o que mais gosta no Brasil.
Durante a recepção das crianças no encontro online, sugere-se colocar músicas folclóricas, populares e cantigas dos países de origem das famílias, até todas chegarem. Para dar início, alguém responsável pela organização fará a abertura, saudando as crianças e familiares. Após, todos devem se apresentar, informando seu nome e sua idade.
Em seguida, outro/a integrante fará uma dinâmica de preparação para o início das atividades, colocando músicas e pedindo que as crianças tentem adivinhar o país de origem de cada uma. Após apresentar músicas dos países de todas as crianças participantes do projeto, pode ser iniciada a contação da história eleita para o encontro — O
Pássaro Amarelo, de Olga Dios, a qual narra as aventuras de um pássaro que viaja pelo mundo com a ajuda de seu amigo macaco Téo.
Depois da contação, deve ser realizada uma dinâmica visando a apresentação de diversos elementos culturais dos países de origem das crianças, que podem ser tanto pesquisados pela equipe, como também coletados de relatos das famílias em conversas anteriores ao encontro. Para encerrar, deve-se solicitar às crianças que apresentem os desenhos que fizeram sobre os elementos que mais gostam no Brasil, seu país de acolhimento, se assim o desejarem.
Os materiais necessários serão: folha de papel sulfite em formato A4, lápis de cor, canetinha, livro selecionado.
REFERÊNCIAS
ABRANTES, A. A. A educação escolar e a promoção do desenvolvimento do pensamento: a mediação da literatura infantil. 2011. 248f. Tese (Doutorado em Educação)-Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2011.
NASCIMENTO, C. P.; PASQUALINI, J. C. Arte. IN: PASQUALINI, J. C.; TSUHAKO, Y. N. Proposta pedagógica para a Educação Infantil do Sistema Municipal de Ensino de Bauru/ SP. Bauru: Secretaria Municipal de Educação, 2016.
OSMAN, M. O. Contribuições da psicologia histórico-cultural para o processo de escolarização de crianças migrantes. Relatório final de iniciação científica (Graduação em Psicologia) - Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2020.
SALOMÃO, A. Contribuições da psicologia histórico-cultural para o processo de escolarização de crianças migrantes. Relatório final de iniciação científica (Graduação em Psicologia) - Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2020.
SALOMÃO, A.; CANUTTO, A. L. B.; PEREIRA, E. C.; SILVA, G. L. R. da; OLIVEIRA, L. L. de; OSMAN, M. O.; KLEPA, V. de B. Infância, Migração e Humanização. In: Revista TOM: Andanças e Travessias da migração e do refúgio, v. 4, n. 7, 2018. Disponível em https://issuu. com/tom_ufpr/docs/tom7. Acesso em nov. 2021.
SILVA, G. L. R.; SALOMÃO, A.; ABRAHÃO, B.; AOTO, C. A.; TRAUTWEIN, J.; OLIVEIRA, L. L. de; ABREU E LIMA, L. M. de; MAIA, M. B. de S. A.; OSMAN, M. O.; KLEPA, V. de B.; MARTINS, T.; BALANGUER, N. G.; OLIVEIRA, L. B. de. Autorretrato. In: Ressonâncias, v. 1, fev. 2020. Disponível em: https://issuu.com/ressonancias/docs/primeira_edicao. Acesso em nov. 2021.
SILVA, G. L. R.; AOTO, C. A.; LUBKE, L.; ABREU E LIMA, L. M. de; GABRIEL, M.; OSMAN, M. O.; TSIFLIDIS, N. R.; KLEPA, V. de B. Contando histórias, resgatando memórias: arte como mediadora para o resgate de trajetórias e memórias de crianças migrantes. Dossiê Temático: Métodos visuais na investigação com públicos plurilíngues. In: Revista X, v. 16, ed. 2, 2021. Disponível em: https://bit.ly/2VphNqY. Acesso em: 11/07/2021.
TSFLIDIS, N. R. Narrativas em vídeo: possibilidades discursivas no âmbito da ação extensionista Pequenos do Mundo. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Letras Português) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2021.
ONLINE COM CRIANÇAS MIGRANTES
material do professor

Faixa etária
■ De 6 a 10 anos
PARA COMEÇAR
As atividades propostas são relativas a encontros virtuais com crianças migrantes durante o período de quarentena em 2021, cujo objetivo principal é a manutenção do vínculo extensionista. São dois encontros, realizados mediante convite prévio, cujos conteúdos não dependem um do outro.
Para o bom andamento do encontro online, sugere-se o planejamento e distribuição prévia de funções, a saber: administração da sala, monitoramento do chat, anotações sobre o encontro para relatoria. Além disso, é importante decidir previamente quem será responsável pelas etapas do encontro (saudação, ambientação, contação de história, atividade e encerramento).

OFICINA 1 — SOBRE APRENDIZAGENS E SENTIMENTOS Saudação
Inicie o encontro se apresentando e saudando as crianças e os familiares presentes. Realize uma rodada de apresentações.
Olá, crianças! Vamos nos apresentar? O meu nome é ___.
1. Qual é o seu nome?
2. Quantos anos você tem?
Ambientação
Solicite às crianças que fechem os olhos e tentem lembrar de encontros presenciais ou virtuais anteriores. A título de exemplo, você pode ajudá-las trazendo elementos da rotina: atividades realizadas, momentos divertidos com as crianças, hora do lanche e brincadeiras.
Regras


Apresente as regras do encontro e os recursos da plataforma online. Caso algumas crianças já estejam familiarizadas, solicite o auxílio delas para explicar às demais como a plataforma funciona.
1. As regras dos nossos encontros: Desligar o microfone. Levantar a mão para falar.
2. Solicite sugestões às crianças para o bom andamento do encontro.
PARA LER
Conte a história selecionada para o encontro. Indicamos a obra Dicionário Ilustrado de Sentimentos, escrita por Fernanda Salgueiro e ilustrada por André Mendes. Caso não seja possível contar a história ao vivo no encontro, sugerimos gravação prévia ou seleção de vídeo da referida obra disponível na internet.
A cada sentimento expressado durante a história, solicite às crianças que façam uma careta que o represente
PARA PRATICAR
Ao fim da história, peça que cada criança faça uma careta que represente o sentimento mais recorrente durante a pandemia. Simultaneamente, peça às outras crianças que tentem adivinhar qual sentimento é.
Para encerrar: peça a todos os presentes que façam uma careta com feição brava, suavizem-na aos poucos, passando por um sorriso até chegar a uma gargalhada.
PARA ASSISTIR

Para ilustrar e inspirar a condução da contação da história com as crianças, gravamos um vídeo de como ela foi conduzida no encontro virtual, que está disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=jLvGtqydNgk
PARA SABER MAIS
Envie o convite com antecedência aos responsáveis com as seguintes informações:
O convite para o encontro também pode ser feito a partir de um vídeo. Sugerimos que acesse o vídeo que enviamos para as crianças antes do nosso encontro, o qual introduziu o tema e funcionou como uma pré-tarefa. Está disponível em: https:// www.youtube.com/watch?v=JJBRFAuroBw.
Como material preparatório para a oficina, enviamos alguns desenhos para que as crianças pudessem colorir e desenhar. Estão disponíveis em: https://drive.google. com/drive/u/3/folders/1WbLriizXRmaZyk-4t_qteSLLI7vxTL5x

OFICINA 2 - VOLTA AO MUNDO
PARA COMEÇAR
Durante a recepção dos participantes, coloque músicas dos países de origem das famílias até que o encontro possa ser iniciado.
Comece a oficina se apresentando e saudando as crianças e os familiares presentes. Realize uma rodada de apresentações.
Olá, crianças! Vamos nos apresentar? O meu nome é ___.
1 . Qual é o seu nome?

2 . Quantos anos você tem?
Ambientação
Para preparar as crianças para o encontro, comece uma dinâmica com músicas originárias dos países das crianças e explique como ela se dará. Colocando uma música por vez, as crianças terão que adivinhar a qual país cada música pertence.
Regras

Apresente as regras do encontro e os recursos da plataforma online. Caso algumas crianças já estejam familiarizadas, solicite o auxílio delas para explicar às demais como a plataforma funciona.
1. As regras dos nossos encontros: Desligar o microfone. Levantar a mão para falar.
2. Solicite sugestões às crianças para o bom andamento do encontro.
PARA LER
Conte a história selecionada para o encontro. Indicamos a obra O Pássaro Amarelo, escrita e ilustrada por Olga Dios. Caso não seja possível contar a história ao vivo no encontro, sugerimos gravação prévia ou seleção de vídeo da referida obra disponível na internet.
Ao fim da história, sob a inspiração das invenções e viagens do personagem principal, pergunte, conforme sugerido ao final do livro, o que cada criança gostaria de inven-
tar para melhorar sua vida e a de quem vive ao seu redor. Além disso, pergunte às crianças os países em que elas já moraram.
PARA PRATICAR
1. Após a contação da história e discussão, realize um jogo apresentando diversos elementos culturais dos países de origem das crianças. As informações podem ser tanto pesquisadas pela equipe, como também coletadas de relatos das famílias em conversas anteriores ao encontro. O jogo pode ser estruturado em formato de roleta no modelo disponível em sites como o Wordwall.

2. Depois do jogo, proponha que cada criança faça um desenho sobre o que mais gosta no Brasil, seu país de acolhimento. Esse desenho pode ser solicitado previamente, para que já esteja pronto no dia do encontro.
3. Faça uma rodada para que cada criança apresente, caso queira, o seu desenho. Elogie o feito, fazendo comentários a respeito do desenho.
PARA SABER MAIS
Para ilustrar e inspirar a condução da contação de histórias, sugerimos o canal “Fafá Conta”, disponível em: https://www.youtube.com/c/Faf%C3%A1conta; e o canal da Biblioteca Pública do Paraná para o público infantil, “BPC Conta”, disponível em: https://www.youtube.com/channel/UCG_12n52SwBeQkUIK1ZlMdw.
O convite para o encontro também pode ser feito a partir de um vídeo. A título de exemplo, disponibilizamos um vídeo que enviamos para as crianças antes do nosso encontro: https://youtu.be/B-vCOcQGVeE .
FICHA TÉCNICA
AUTORAS/ES
Graziela Lucchesi Rosa da Silva, Maria Gabriel, Ana Paula Romani, Amarilys Lackner Salomão, Camila Akemi Aoto, Luana Lubke de Oliveira, Luisa Martins de Abreu e Lima, Mayssun Omari Osman, Nathan Gabriel Balaguer, Nathalia Ribeiro Tsiflidis, Thiago Martins, Thais Watanabe, Victória de Biassio Klepa.

ANOTAÇÕES


INTEGRAÇÃO DOS ESTUDANTES HAITIANOS À UFPR
Resumo
Neste artigo, apresento o resultado de um estudo realizado sobre o processo de integração de um grupo de imigrantes haitianos à UFPR, em Curitiba, fruto de uma pesquisa de iniciação científica com abordagem baseada na discussão sobre hospitalidade e racismo, preconceito, segregação e outras discriminações. Analiso as interfaces dessa abordagem a partir das contribuições decoloniais de Aníbal Quijano, Jacques Derrida, entre outras referências. A interpretação e as técnicas de obtenção de dados utilizados foram a comunicação informal, questionários, revisão bibliográfica, pesquisa documental, sistematização e análise dos dados



coletados. Sugerimos em nossa pesquisa que determinadas condições da hospitalidade acabam por impedir a integração e a socialização dos imigrantes haitianos, levando-os, em muitos casos, a um sentimento de inferioridade. Também, com a pesquisa, nos aproximamos das perspectivas de futuro imaginadas por esses imigrantes e também da constituição do trauma, apontado por muitos entrevistados, como um dos principais problemas que envolvem a integração destes imigrantes no espaço social universitário curitibano.
Palavras-chave: Imigrantes haitianos, Hospitalidade, UFPR.
Introdução
Neste texto, problematizo alguns aspectos da integração e socialização de um grupo de estudantes imigrantes haitianos na Universidade Federal do Paraná (UFPR), em Curitiba, a partir de entrevistas, pesquisa documental e revisão bibliográfica, abordando as situações de acolhimento, hospitalidade e preconceito.
Os contextos socioculturais da cidade de Curitiba, nos quais esses estudantes imigrantes haitianos se inserem, comportam uma complexidade de fenômenos envolvendo o preconceito, a segregação, a discriminação e a fragilidades dos processos de integração e de socialização, em geral, em razão da origem étnica dos estudantes.
Como ocorre com quase todos os imigrantes, a integração ao novo lugar envolve dificuldades, como a de encontrar alojamento e emprego, com o agravante de, em geral, ter de enfrentar discriminação étnica e racial (BERNÈCHE,1983). No caso de Curitiba, a questão da habitação é, de fato, um elemento importante, pois a formação desse espaço urbano é marcada historicamente pelas desigualdades (CARVALHO; SUGAI, 2014). A cidade apresenta duas facetas distintas e contrastantes: uma, composta por
territórios nos quais vive uma parcela da população mais bem servida pelo Estado; outra, espacial e socialmente menos estruturada, em que habita parte da população em condições mais precarizadas de acesso a serviços e emprego. Conforme Carvalho (2014), como produto social, esse espaço é resultado do conjunto de movimentos e ações humanas em torno do consumo e exclusão.
É nessa Curitiba dividida - em meio a uma quase ausência de políticas de acolhimento com marcantes cenas de preconceito, exclusão, racismo e xenofobia - que ocorre, conforme afirmam Bomtempo e Barbosa (2019), o processo de integração das populações haitianas. Veremos com Vieira (2016) que existem certas doses de ideologia de branqueamento e seletividade dos imigrantes, fazendo com que preconceitos e discriminações raciais dificultem a integração dos imigrantes haitianos, principalmente quando se trata de encontrar um lugar para morar. Em nosso entendimento, isso contribui para a concentração desses imigrantes (inclusive estudantes imigrantes haitianos matriculados na UFPR) em bairros distantes e periféricos da cidade de Curitiba ou, ainda que no centro, em condições mais precárias. Ou seja, uma realidade que evidencia não apenas o preconceito e a

discriminação racial, mas também social e econômica na cidade, algo que torna ainda mais difícil a integração desses imigrantes no espaço social da Universidade e gera diferentes traumas. Entendo o preconceito, a discriminação e a segregação espacial como questões centrais que levam, portanto, ao problema da integração.
Discutiremos como o preconceito se efetiva não apenas em ataques verbais, mas também em atos como o de manter esses imigrantes fora de alguns espaços sociais em virtude de sua origem geográfica, mas sobretudo histórica; trata-se de segregação espacial, visto que a forma pela qual grupos são excluídos de certos espaços anda de mãos dadas com a discriminação, a qual priva o grupo racializado de certos direitos ou privilégios sociais. Além disso, apresentaremos algumas das razões pelas quais um indivíduo ou um grupo de indivíduos pode ser alvo de um ato de racismo, entre elas, o preconceito sobre um certo “desvio político” (pautado na afirmação de que o povo haitiano poderia servir de mau exemplo por ser revolucionário e questionador); o contexto econômico de seu país (pobreza generalizada, ampliada com a inserção cada vez maior num mundo globalizado); a ignorância de seus costumes e cultura, colocando-os como raça inferior (BOUCHARD, 2002). Essas são algumas das questões que perpassam a integração desses alunos haitianos na UFPR, as quais trataremos a partir de agora.
Os estudantes haitianos face à universidade para
todos
Derrida (2001), no texto “L’Université sans condition” 1 , nos convida a pensar sobre a universidade incondicional, uma universidade que vai além da liberdade acadêmica. Trata-se de pensar a universidade como um espaço público de transformação, de resistência crítica, que se opõe a quaisquer formas de poderes e de apropriação dogmática e injusta. Em diálogo com essa perspectiva, no ano de 2014, a UFPR realizou uma parceria com a Cátedra Sérgio Vieira de Melo, da Agência das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), que estabeleceu o Programa de Política Migratória e a Universidade Brasileira (PMUB). De acordo com a resolução 13/14-CEPE e as resoluções/legislações complementares, tornou-se possível o ingresso de imigrantes e refugiados na UFPR, nas vagas remanescentes de diversos cursos (GEDIEL; GODOY, 2016). Tal programa, somado a outros esforços, como a implementação do Programa de Estudantes-Convênio (PEC-G)2 pelo Ministério das Relações Exteriores e pelo Ministério da Educação, bem como o vestibular especial para refugiados/migrantes, facilitou o ingresso de estudantes estrangeiros. Tudo isso tem garantido o acesso de imigrantes à Universidade, compondo um aspecto importante da hospitalidade, ao qual o Estado precisa estar atento e fazer prevalecer. Ainda assim, como veremos, existem outras questões relativas à hospitalidade oferecida ao imigrante que preci-

sam ser melhor abordadas, como apresento na próxima seção.
Hospitalidade face às condições raciais e sociais
A hospitalidade é um valor em que a aceitação do outro é exercida de forma incondicional e gratuita, para todas as populações migrantes, mesmo as mais vulneráveis e necessitadas. Conforme a lei cosmopolita de Emmanuel Kant, o direito à hospitalidade universal é um direito de visita entre indivíduos, que decorre da liberdade de ir e vir que cada um possui como habitante da Terra; é o poder de se deslocar em qualquer espaço sem ser perseguido como estrangeiro ou tratado como inimigo até que cometa atos hostis ou represente uma ameaça. O objetivo da lei cosmopolita kantiana é estabelecer uma convivência pacífica entre indivíduos que se movem pelo espaço. Concordando com a lógica da convivência pacífica kantiana, Emmanuel Levinas adota uma abordagem ligada à questão do “eu” que se propõe a ir ao encontro do outro sem endereçamento e enraizamento do ser. Segundo o autor, quando isso se quebra, é criado um trauma, transformando a hospitalidade em hostilidade (UCS, 2015).
Para Jacques Derrida, a hospitalidade se assemelha a um conjunto de fronteiras que, mesmo que pareçam espaços limítrofes, indicam as possibilidades de seu reconhecimento e sua superação. As mesmas condições, regras, direitos e deveres impostos aos anfitriões se impõem também aos que recebem o acolhimento, criando uma dificuldade, ou mesmo uma impossibilidade, de se cumprir a lei da hospita-
lidade incondicional. Na fronteira, ou seja, no limite entre a lei da hospitalidade e a lei incondicional da hospitalidade, surgem questões complexas, tornando a reflexão sobre a hospitalidade um princípio ético, incondicional e infinito; a hospitalidade realizada como responsabilidade é traduzida em palavras e gestos; a língua constitui um paradoxo da hospitalidade, pois, ao mesmo tempo que serve como forma de acolhimento, também provoca hostilidade, já que é imposta ao hóspede (COMANDULLI, 2015).

Nesse sentido, ainda conforme Derrida (2001), a hospitalidade incondicional não estaria definida por nenhuma lei, ou seja, o “sim” ao recém-chegado, estrangeiro ou imigrante, a um hóspede ou visitante inesperado, quer o recém-chegado seja cidadão de outro país ou não, é incondicional. No entanto, quando a hospitalidade é oferecida com base no status racial, social, entre outros, isso pode acarretar, por vezes, um sentimento de superioridade de um grupo sobre outro, e assim, colocar o outro em uma posição de inferioridade, gerando problemas. À luz do conceito de hospitalidade desses autores, busco compreender, portanto, a situação encontrada no espaço social da UFPR pelos estudantes imigrantes haitianos. Destaco, em minha pesquisa, as formas de hospitalidade oferecidas considerando as condições raciais, sociais, entre outras, e as consequências que elas têm sobre este grupo de imigrantes.
A partir dos relatos das entrevistas, percebi que boa parte dos estudantes haitianos, apesar de receberem o apoio material e burocrático de acesso à Universidade,
sentem-se limitados e não integrados em vários aspectos no espaço social da Universidade. Como exemplo, destacam a relação e a convivência dentro de alguns espaços, como a sala de aula, a participação nos laboratórios e a iniciação científica, nos respectivos ambientes sociais de seus cursos. Em um dos relatos que coletei no período de entrevistas, um estudante imigrante haitiano chamado Pradel Joseph3 narrou:
[...] eu não me sinto confortável [...] me sinto como uma pessoa diferente dos outros. [...] Minha presença não é muito importante para minhas colegas. [...], limite que existe entre eu e minhas colegas, cada um já tem seu grupo de amigos, conversa não existe entre eu e minhas colegas brasileiras.
Entendo, a partir de tal relato, que existe um abismo entre quem é de fora e quem é do país, e tal abismo às vezes causa mal-entendidos desnecessários devido ao desconhecimento ou falta de vontade de conhecer os outros.
Outra questão levantada nas entrevistas se refere à língua, destacada por vários estudantes como uma barreira que torna difícil sua convivência no espaço social brasileiro, desde os seus primeiros dias no Brasil. Segundo eles, a língua impõe limites que os deixam indefesos diante da lei e de algumas situações de discriminação e preconceito.
A língua me coloca muitas barreiras, até nas aulas, às vezes tem matérias que eu domino muito bem, mas não consigo me expressar em termos de compreensão. Devido ao uso incorreto dos tempos verbais, às vezes pareço grosseiro (Pradel Joseph).
Esse relato parece ter relação com a conclusão a que chega Derrida (1997), segundo a qual seria um exagero pedir a um estrangeiro que compreenda e fale uma língua, em todos os sentidos do termo, em todas
as suas extensões possíveis, antes de recebê-lo.
Segundo os entrevistados, é muito comum, no espaço social brasileiro, que eles sejam alvo de todo tipo de maldade, o que pode acontecer por não estarem em seu território social de origem. Pradel Joseph declara que:
Várias vezes no meu trabalho, quando os brasileiros querem fazer algo ou não querem fazer algo, eles dizem ao gerente que eu digo que não quero fazer tal e tal coisa, enquanto eu digo nada. Eles sempre dizem o que eu não disse, porque sou estrangeiro.
Embora não estejam em seu território social de origem, esses imigrantes são sujeitos de direito como todos os brasileiros, o que não os priva também do cumprimento de seus deveres. Parte dos problemas relativos a essa questão de sujeito de direito, mencionados pelos alunos haitianos, pode ser compreendida a partir de uma interpretação de certos fatos históricos, políticos e econômicos, que, desde o período da escravidão até os mais recentes períodos de turbulência política e econômica do Haiti, são frequentemente usados no tratamento aos imigrantes haitianos em diferentes territórios para os quais migram.
Já a questão da estigmatização social balizada em preconceito racial nos faz pensar muito sobre o conceito de colonialidade do poder de Aníbal Quijano, a partir do qual o autor explica a imposição da cultura dominante ao resto do mundo. Segundo Quijano, a colonialidade é o estabelecimento de um conjunto de normas sociais e étnicas, que permitem aos europeus afirmar sua superioridade como conquistadores sobre os conquistados a partir da ideia de raça,

baseada em uma estrutura biológica. Ela reúne todas as formas históricas de controle do trabalho, de seus recursos e de seus produtos, em torno do capital e do mercado mundial.

A cultura dominante ignorando outros grupos humanos: o caso do sujeito cultural haitiano
Fatos históricos, políticos e econômicos, desde o período da escravidão até os mais recentes períodos de turbulência política e econômica no Haiti, são usados para caracterizar o imigrante haitiano onde quer que ele esteja, ignorando-se sua cultura e identidade. Marie Meudec (2017), pensando sobre os processos de mudança e estigmatização que afetam as comunidades haitianas em diversas sociedades, entende a perpetuação de estereótipos como um processo historicamente constituído e socialmente ancorado em noções de alteridade, imaginário colonial e hegemonia branca. O território haitiano tem um histórico revolucionário e questionador, que por vezes poderia servir de exemplo para outros territórios. No entanto, essa característica tem sido desvalorizada, como, por exemplo, em uma declaração do ex-presidente dos Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, na qual, segundo Désinor (1997), ele teria afirmado que é preciso levantar de maneira contínua os pés calçados contra as pessoas descalças, pois, somente assim, será estabelecido um predomínio sobre esse país de negros que conquistou sua independência pelas armas e que é um mau exemplo para os 28 milhões de negros na América.
Essa representação do Haiti e dos haitianos pode ser entendida a partir da relação que existe entre representação e poder colonial. Essa representação está ligada a um imaginário colonial ancorado nas práticas neocoloniais. Segundo Misoczky e Böhm (2013), as práticas neocolonialistas são relações neocoloniais de hegemonia geoeconômica, geopolítica e geocultural, que funcionam efetivamente por meio da contribuição ativa de indivíduos e organizações localizadas em nações e comunidades. Elas não são abstratas; são práticas sociais reais, que frequentemente estigmatizam, desumanizam e discriminam cidadãos haitianos. Essas relações sociais hierárquicas podem ser percebidas não apenas nos discursos do cotidiano ou nas mídias, mas também em discursos científicos.
Já no Brasil, atualmente, um dos discursos mais difundidos sobre o território haitiano é o de que se trata de um dos países mais pobres do planeta (no contexto do desenvolvimento capitalista) - (HERREA et al., 2014), com uma realidade socioeconômica muito crítica e caótica. Tais discursos contribuem para a construção dos diferentes tipos de discriminação e preconceitos sofridos por haitianos/as em toda parte do mundo. O preconceito, a segregação e a discriminação são mecanismos a partir dos quais o racismo se manifesta socialmente, atingindo o imigrante haitiano de diferentes formas no território brasileiro. Conforme Meudec (2017) e Wieviorka (2007), o racismo sistêmico é a falha das instituições em prestar serviços adequados às pessoas com base na sua raça; não se caracteriza, portanto, por atos de discriminação explícitos e abertos, mas difusos na distribuição
de serviços, benefícios e oportunidades a diferentes segmentos da população. Vários elementos constituintes da identidade haitiana já foram objeto desse racismo sistêmico, tais como: o vodu haitiano, o crioulo e até mesmo o espaço territorial do Haiti.
O aspecto cultural de um território, ou seja, a geografia cultural de um espaço, abrange as diferentes formas de manifestações culturais, tais como a religião, a língua, a música, entre outros. Isso significa que são os habitantes no espaço e em suas relações que constituem seus territórios (CORRÊA, 2012).

O aspecto sociocultural do território haitiano e os elementos históricos nele incorporados permitem a construção de uma identidade haitiana, adquirida de uma dupla herança cultural: uma do lado oeste africano e outra da França, mas com proporções variáveis, dependendo do meio social e do aspecto cultural considerado (MÉTRAUX, 1979). O lado afro-haitiano do espaço social haitiano não tem apenas a forte dominação histórica, mas também dos costumes ou da gastronomia, o que leva autores como Montserrat Palau Marti (1965) a dizer que o Haiti é a África na América, e outros, como Édouard Glissant, a afirmar que os haitianos compõem uma população transbordante, que se torna um povo. O lado francês do povo haitiano é marcado pela língua francesa e pela educação francesa, uma educação colonial que retarda as capacidades intelectuais dos estudantes haitianos, porque é feita em uma
língua que não é sua língua materna de todos os dias (MFABOUM, 2004). Dado esse contexto, entender a identidade cultural haitiana demanda uma atenção cuidadosa, que dê conta de discutir e analisar a complexidade de sua constituição. Isso porque essa mescla cultural foi conformada num longo e violento processo histórico sobre o território haitiano que deixou tristes marcas na população (inclusive de imigrantes), entre as quais destacamos: o preconceito e a discriminação balizadas no racismo e segregação socioespacial4 .
O território e seus habitantes em relação revelam que o espaço de vida está impregnado de valores que não são apenas materiais, mas éticos, espirituais, simbólicos e afetivos. Pode até ser um lugar de sonho, em vez de um lugar para viver e morar. Ele não é um princípio material de apropriação, mas um princípio cultural de identificação e pertencimento, o que se traduz pela intensidade da sua relação com o seu habitante. Por isso, o espaço de vida não deve ser visto apenas como um recurso ou suporte econômico, mas como algo que faz parte da identidade coletiva de quem nele habita, que mantém uma relação essencialmente afetiva, o que explica a sua importância como construtor de identidade (BONNEMAISON; AMBREZY 1996).
No entanto, os impactos econômicos e financeiros da globalização influenciam nessa relação entre o espaço e os seus habitantes, transformando-os profundamente, para se manterem competitivos. O

território passa a ser considerado como um recurso que pode ser explorado, valorizado e desvalorizado. Torna-se um meio de desenvolver atividades econômicas e as populações simplesmente se tornam sujeitos economicamente ativos (JOLIVET; LÉNA, 2000). Tal é a situação atual do território haitiano - colocado pela globalização entre as regiões mais desvalorizadas pelas forças produtivas do capital -, bem como sua posição no contexto social. Tal condição tem feito com que milhares de haitianos deixem o país em busca de melhores condições de vida no exterior. O território haitiano passa a ser utilizado como instrumento político e econômico com interesses privados globais (típicos do modo de produção da sociedade capitalista), que o controlam em todas as suas instâncias. Conhecido pela desvalorização das forças do Estado e pela parceria entre o Estado e a iniciativa privada, que, de certa forma, dominam este território, ele não recebe infraestrutura da sociedade capitalista, sendo usado por capitalistas individuais apenas para gerar lucro (HALLWARD, 2006; AMARAL; ALVES, 2016).
Essa geografia social do capitalismo, segundo Quijano (2005), molda-se desde a colonização, privando as populações colonizadas de suas produções sociais, assim como de suas identidades culturais, capturando os processos mais favoráveis ao desenvolvimento do capitalismo em benefício do centro ocidental. Nessa forma de organização geográfica, social e cultural, as formas de produção de conhecimento locais foram sendo reprimidas, bem como os seus modos de produção de sentidos e seu universo simbólico. Assim se encontra
hoje o território do Haiti, sendo a população haitiana a principal vítima.
Resumindo: para o sistema capitalista, o território é apenas um recurso destinado à exploração e acumulação; porém, como expus anteriormente, o território vai além de um recurso, ele se faz com base em relações afetivas, que unem aqueles que compartilham a mesma representação social, cultural e geográfica. É o lugar fundador da identidade coletiva, cultural, social, ética e de estéticas que mergulham no sagrado de quem vive lá (BONNEMAISON; AMBREZY, 1996).
Desse modo, o território, como um espaço concebido a partir de experiências humanas, é o lugar em que se desdobram atividades sociais, o que faz dele um lugar social, tratado pelo espírito humano, que se torna provedor de relações e de história (CHIVALLON, 1995). Num sentido parecido, Paul Claval (2002) reforça essa ideia, afirmando que o espaço não é um suporte neutro na vida de indivíduos e grupos, mas o resultado da ação humana que mudou a realidade natural, criando paisagens humanas e humanizadas. A memória coletiva também é feita de lugares e paisagens, aos quais as lembranças do passado conferem um forte valor sentimental. O desenvolvimento da consciência territorial está vinculado às identidades individuais e coletivas. Os elementos culturais são como pontes que estabelecem relações entre identidades e território; são, portanto, elementos importantes neste momento em que a globalização ameaça muitas identidades.
A religião, a música, a língua: elementos culturais determinantes na formação da identidade

Segundo o geógrafo Mark Edwin Sopher (1967), a religião como fenômeno cultural associada a um determinado espaço é classificada em dois tipos: religião étnica e religião universalizante. As religiões étnicas estão ligadas às práticas culturais locais associadas a um determinado espaço, enquanto as universalizantes têm práticas culturais de significados comuns e são impressas por rituais e dogmas reconhecidos em diferentes lugares. Entre as práticas universalizantes está o catolicismo (CORRÊA, 2012).
Gil Filho (2009) afirma que a paisagem religiosa gera um complexo de significados integrados, símbolos e práticas articuladas com uma comunidade de adeptos, um sistema cultural que molda o mundo de diferentes formas, afirmando especificidades que se referem principalmente a um ambiente comunitário. Está, ainda, associada à reprodução de modelos condicionados pelas circunstâncias das dinâmicas práticas de indivíduos e grupos de acordo com seus contextos socioculturais e econômicos. Assim, o vodou ayisyen5 , como religião étnica de ritual e crença, foi formado a partir da necessidade de ajuda divina, a qual, segundo os escravizados acreditavam, poderia tirá-los da escravidão e servir como auxílio para enfrentar o deus cristão branco na época. Essa religião é a pedra angular na construção do território social haitiano e o símbolo da resistência africana desde a época colonial até o estabelecimento do sistema capitalista (FICK, 1997; PROSPERE; GENTINI, 2013; MÉTRAUX, 1979).
O vodu, assim, torna-se um vetor impor-
tante na construção do território e da identidade haitiana, tendo em vista que muitos de seus aspectos dependem diretamente do território social haitiano (SOUZA, 2010). Ele é parte integrante da experiência socioespacial principalmente dos habitantes do campo. Não é apenas uma religião, mas também um sistema de atenção à saúdeincluindo-se a saúde mental -, que abrange práticas de cura, cuidado da saúde, prevenção de doenças e promoção do bem-estar coletivo e pessoal. Seus remédios são feitos com plantas e são muito populares tanto no Haiti, como no exterior (BLANC, 2010). Essa religião encontra a sua origem na cultura haitiana, na particularidade espacial do território haitiano e na vontade de respeitar os lugares nos quais os eventos e o significado das coisas têm uma explicação, devendo permanecer no seu próprio universo simbólico (HURBON, 1987). A relação que existe entre o vodu haitiano e o território social haitiano é muito forte, o que leva Aubert Rabenoro e Alfred Metraux (1979) a afirmarem que o haitiano nasceu seguidor do vodu, já que sua autêntica representação espiritual territorial nacional e seu espírito criativo o envolvem e o penetram ao mesmo tempo (RABENORO; MÉTRAUX, 1979).
Apesar de sua estreita relação com o território social haitiano, o vodu haitiano está apto a se encaixar, a despeito das limitações, aos novos territórios sociais e novas realidades temporais e ambientais, no caso da migração. Pois, de fato, as relações sociais e crenças que o envolvem se transladam com seus portadores. No entanto, a adaptação a um território exterior exige ajustes nos materiais, nos rituais, sobretudo quando se refere ao ambiente urbano. Por exemplo, em Miami, nos EUA, existem muitos haitianos que praticam o Vodu haitiano, desempenhando um papel central na
rede de imigrantes. Isso, segundo Béchacq (2012), tem relação também com o clima “tropical” e com o grande número de imigrantes haitianos que vivem na região. Em Curitiba, o clima chuvoso é um empecilho, pois alguns rituais de vodu não podem ser realizados quando chove com frequência. O ajuste de materiais para os rituais também é cada vez mais difícil devido às consequências da falta de integração, já que isso exige uma forte interação entre o praticante e os habitantes, principalmente nas zonas rurais. Isso porque é necessário saber quais elementos locais equivalem aos materiais necessários e também ter um conhecimento dos nomes científicos das plantas no Brasil, uma vez que muitos imigrantes só conhecem os nomes que elas têm no Haiti, o que os impede de se adaptarem. Embora haja um grande número de haitianos no Brasil/Curitiba, esses imigrantes não voltam com frequência à sua terra natal, como ocorre com os imigrantes haitianos que moram nos EUA, o que dificulta o praticante de vodu a se munir de materiais necessários a essa prática.

Outro aspecto importante da constituição da identidade haitiana se refere à música. Segundo o geógrafo francês Dominique Crozat (2016), a música é um mundo complexo caracterizado por algumas ideias iniciais, entre as quais as de que: é um vetor para a experiência dos lugares; é um campo de referências para a construção de identidades espaciais individuais e coletivas; é um ator da transformação do espaço em território; é criadora de identidade territorial, etc. A diversidade que existe nas abordagens da música para a geografia explica a complexidade que envolve a tentativa de entender esse universo. Para Crozat, “[…] a música também busca suas identidades na relação espaço-tempo” (2016, p.30), por-
tanto, é uma manifestação cultural que se desenvolve no espaço e no tempo. É através dela, dos ritmos, das canções e tradições de dança, que foi possível rastrear a mobilidade espacial das populações e suas origens nos períodos históricos e pré-históricos (AROSTEGUY, 2020).
Diante disso, Marcos Alberto Torres (2011) argumenta que a paisagem sonora, sendo integrada pela música, constitui o universo simbólico de um povo, o seu jeito de fazer e/ou valorizar sua música e seus aspectos culturais. A música é um som culturalmente organizado pelo homem. É nessa relação do concreto e do simbólico da música com o território que nasceu a mizik popilè ayisyen6. Para Crozat, «[...] a música é quase sempre vista com referência a algo além dela mesma, como suporte de identificação» (2016, p. 17). É talvez a partir da mesma perspectiva que a música haitiana é vista pelos haitianos como uma ferramenta de revolta, de reconforto e de lamentação para a sociedade. Como um canal através do qual a sociedade expressa a sua identidade, projetando as suas tradições, frustrações, amor e mesmo o patriotismo, como foi o caso durante a primeira invasão do território haitiano pelos norte-americanos entre 1915 e 1934, já que foi através dela que o povo haitiano disse não às influências americanas e francesas (SANTOS, 2018). O espaço cultural e identitário haitiano é construído dialeticamente entre os haitianos e seu território; esse território desperta nos haitianos diferentes tipos de reações, que contêm peculiaridades expressas por meio de sons, tons, acústica, notas. A música haitiana não é apenas um suporte para a cultura haitiana, mas está envolvida no processo de produção dessa cultura (CROZAT, 2016).
A sua adaptação e a de seu espaço sociocul-
tural, abordada e interpretada pelos haitianos, torna-se uma obra de arte que por definição é subjetiva e ao mesmo tempo coletiva; que faz dela um som que conecta os haitianos com seu território e suas memórias, etc. (AROSTEGUY, 2020). É o caso da música do Dr. Louis Achille Othello Bayard, durante a primeira ocupação norte-americana entre 1915 e 1934, que se torna uma espécie de hino não oficial do país, por evocar fortemente o sentimento nacionalista, bem como a noção de diáspora/exílio e a exaltação das virtudes da terra e do povo. É um exemplo notável de nacionalismo romântico e nostalgia que Connel e Gibson identificam nas canções folclóricas haitianas associadas à imigração, as quais invocam visões populistas de estilos de vida idílicos e comunidades harmoniosas (CONNELL; GIBSON, 2003 apud SANTOS, 2018, p. 71). A música haitiana é um espelho que reflete a realidade haitiana.
O caráter acolhedor da população brasileira, que sempre parece se entusiasmar com a ideia de conhecer novas culturas, não têm se revelado em Curitiba, quando se trata dos ritmos musicais haitianos. Isso acarreta muitos problemas, pois a música é parte importante da identidade haitiana, mas é muitas vezes negligenciada. Por exemplo, apesar da forte presença de imigrantes haitianos na sociedade curitibana, não existem eventos patrocinados ou espaços de eventos para que a sociedade aprenda sobre os ritmos musicais haitianos. Em nossa conversa com alguns entrevistados que têm o hábito de frequentar boates, foi-nos relatado que nunca toca música haitiana nesses clubes. Para Deuxant (2019), a música na vida de um imigrante é um passo importante na preservação da sua identi-
dade, é o elemento que o liga à sua origem e promove a progressão para a cultura de acolhimento.

Muitas vezes, alguns nativos exibem um comportamento intolerante com os imigrantes quando eles usam a sua língua para se comunicar com seus compatriotas e essa intolerância às vezes chega ao ponto da agressão verbal.
O patrimônio popular imaterial, carregado de emoção e afeto, construído a partir do cotidiano, é geralmente vítima da invisibilidade imposta aos povos de países ditos “subdesenvolvidos”, em benefício de outra herança dos países “desenvolvidos”. Esse é o caso do crioulo haitiano. A França tem feito de tudo para garantir a visibilidade de seu patrimônio linguístico no Haiti, introduzindo-se no meio acadêmico haitiano, em instituições do Estado e outros. Apesar disso, os haitianos não se sentem totalmente identificados com essa língua; ao contrário, é o crioulo que se consolida como um patrimônio de resistência e de enfrentamento ao francês.
A língua crioula haitiana, portanto, como patrimônio emocional nacional do povo haitiano, representa memórias do passado e esperanças para o futuro, ainda que sua importância tenha sido pisoteada por vários anos. Pois, só na década de 1970, houve um debate sobre seu futuro no espaço escolar e universitário haitiano, e, só em 1987, a Constituição haitiana foi acrescida de um artigo que exigia a criação de um espaço acadêmico para o crioulo haitiano. Apesar de ter sido sufocado por todos esses anos, o crioulo haitiano é a única língua que estabelece um vínculo emocional e social entre os haitianos e seu território, pois é a língua
materna falada por todos, o que não impede que seus falantes sejam discriminados em favor da língua francesa (GOVAIN, 2013).
O desconhecimento geral quanto a essa rica identidade cultural haitiana impede a compreensão mais profunda do imigrante haitiano hoje, pois se desconsidera todo um conjunto de elementos que o constituem como indivíduo, uma vez que a sua identidade está ligada a uma história, a um espaço geográfico e a uma cultura. A idealização e o desenvolvimento dessas ideias em relação ao imigrante haitiano não são apenas causadas pela falta desses elementos, mas também pela ausência de vontade de conhecê-lo. Isso, por sua vez, afasta esses imigrantes como se fossem espectros, construindo uma imagem bastante triste, que contribui muito para a ampliação de preconceitos. Assim, conhecer e respeitar abre caminho para uma nova concepção, contrária àquela que preconiza a destruição do outro - na qual o sistema socioeconômico mundial usa a raça e a cultura de modo depreciativo, impondo uma transformação que garante a sua hegemonia cultural, política, econômica e social.
Sabemos que existe uma vasta literatura sobre questões sociais dentro das Universidades, porém, percebemos que faltam estudos sobre a abordagem socioespacial desse tema. Grande parte dos trabalhos dizem respeito aos campos acadêmicos e à democratização da educação, negligenciando as abordagens socioespaciais presentes nas questões universitárias (FROUILLOU, 2014).
O espaço como resultado das relações socioeconômicas tem no Estado, produtor e distribuidor de bens e serviços, um dos principais atores na sua produção. As suas intervenções podem equilibrar ou desequi-
librar a relação entre os espaços, produzindo um desequilíbrio no acesso a serviços, infraestruturas, transportes e comunicações, etc. Isso pode levar, muitas vezes, a uma situação de segregação e exclusão de parcela da população do acesso aos bairros ou regiões que têm se beneficiado desses serviços (CARVALHO, 2014).

Foi o que aconteceu com as intervenções desequilibradas ou desiguais de Curitiba, onde há áreas bem servidas pela administração pública - como Batel, Água Verde, Bigorrilho, Cabral, Juvevê, Vila Izabel, Cristo Rei, Portão - e áreas que são tratadas como parentes pobres - como Cajuru, Cidade Industrial, Sítio Cercado, Tatuquara e Uberaba - consideradas as mais violentas de Curitiba, o que Rogério Haesbaert (2009) chama de «dominação política» e Marcelo Lopes de Souza (2009) de «relações de poder». Alguns desses espaços desvalorizados e desprezados são os espaços de vida de vários estudantes imigrantes entrevistados. Ainda que haja alguns deles vivendo no centro da cidade, isso não impede que sejam submetidos a problemas como preconceitos e discriminações enfrentados pelas pessoas oriundas das zonas periféricas e violentas de Curitiba.
Alunos haitianos que enfrentam desequilíbrios socioespaciais
Para o geógrafo brasileiro Rogério Haesbaert (2009), o espaço é considerado um espaço ocupado em um processo de produção de identidade, subjetividade e simbolismo, que é ao mesmo tempo um processo de dominação política e jurídica. Já
para Marcelo Lopes de Souza (2009), o território é um espaço definido e delimitado
por e a partir das relações de poder. Levar em consideração esses aspectos, o que se produz e o que é produzido em um determinado espaço, é relevante para a compreensão da produção espacial, inclusive a partir das relações de poder, bem como dos laços emocionais e identitários, assim como dos conflitos e contradições sociais e econômicas que se desenvolvem entre os grupos sociais no espaço. Apesar de não nos aprofundarmos em todas essas questões, discutiremos aqui os aspectos que se aproximam desse debate envolvendo a hospitalidade e acolhimento na universidade e o caráter de segregação socioespacial a ele ligado.

A maioria dos estudantes imigrantes haitianos entrevistados, como vimos, não desenvolvem (ou desenvolveram poucos) relacionamentos com colegas no espaço universitário. Joseph Nikson, falando sobre sua situação relacional no espaço universitário, disse: “Não tenho amigos na sala de aula [...]. Nunca participei de uma festa com colegas de faculdade. [...], a relação que eu tenho com eles é ruim. Converso pouco com eles” (Joseph Nikson).
Esta falta de relacionamento levanta questões sociais vinculadas à existência de uma segregação desses estudantes. Por essa ausência de convívio, é muito frequente encontrar esses estudantes haitianos em pequenos grupos ou sozinhos, no restaurante ou no pátio da universidade. A situação que conduz à segregação desses estudantes decorre, em parte, da distância social e física no espaço universitário, que, de forma imbricada, conforma o distanciamento relacional. Esse distanciamento relacional é marcado pela falta de hospitali-
dade e de acolhimento.
Infelizmente, os contrastes presentes no espaço social da cidade de Curitiba também parecem estar presentes no espaço universitário da UFPR, na forma do distanciamento relacional, o que contribui para a segregação (FROUILLOU, 2014). Assim, a questão do distanciamento relacional é um fator importante para entender a segregação socioespacial desses alunos imigrantes no espaço universitário da UFPR, pois, quanto mais isolados relacionalmente, mais são segregados. E, cada vez mais, eles vão evitando participar de atividades acadêmicas que são boas para sua carreira profissional, para não ter de lidar com esse problema. Compreender essa questão da distância relacional ajudará a formar uma estratégia de reagrupar esses alunos no espaço universitário da UFPR (FROUILLOU, 2017).
Percebemos que a discriminação, a segregação e diversas violências verbais sofridas pelos imigrantes haitianos não se devem apenas à cor da pele, mas também ao seu passado histórico, modo de vida e cultura diferentes, que, ao serem colocadas em relação umas com as outras, no momento da imigração, fazem com que os envolvidos tenham de lidar com as tensões e criar novos instrumentos sociais capazes de intervir e entender as divergências da vida cotidiana. Infelizmente isso não é diferente na Universidade.
O corpo social da comunidade estudantil haitiana da Universidade Federal do Paraná, de 2012 a 2020, apresenta uma configuração onde há predominância de alunos de reingresso bastante acentuada.
Em termos de proporção de sexos de 2012 a 2020, houve 74,3% de homens matriculados na universidade em comparação com 25,7% de mulheres. Em relação à área dos cursos, o
Estudantes Imigrantes haitianos na UFPR 2012-2020
Fonte: UFPR, 2020

ingresso de estudantes imigrantes haitianos é muito diversificado, como podemos ver a seguir: 76% de homens se concentram na área de ciências sociais aplicadas contra 24% de mulheres; na engenharia, 100% são homens; em ciências da saúde, 25% são homens e 75% mulheres; nas ciências humanas, 57,1% são homens e 42,9% mulheres; em ciências biológicas, há 71,4% de homens e 28,6% de mulheres; em ciências da terra e exatas, 100% são homens; nas ciências agrícolas, 80% são homens e 20% mulheres; e, finalmente, em linguística, letras e artes, 100% são homens (UFPR, 2020). Essa comunidade estudantil é composta por uma maioria de homens, o que se explicaria pela própria conformação social e cultural haitiana, que não valoriza a formação das mulheres, pois não oferece as mesmas oportunidades para as mulheres na ciência em comparação aos incentivos que são dados aos homens. Desde a infância, as mulheres são estimuladas a ficar em casa, ajudando a mãe com os serviços domésticos, até se tornarem adultas, tendo, assim, pouco tempo para elas mesmas, inclusive no quesito formação. Um outro aspecto importante para entender essa desproporcionalidade tão grande é o fato de que as mulheres no Haiti são estimuladas, por essas relações culturais da dinâmica da sociedade haitiana, a se envolverem no comércio atacadista e varejista. Ou seja, há uma divisão do trabalho naturalizada entre homens e mulheres na cultura. Desde crianças, elas são obrigadas a acompanhar suas mães comerciantes aos mercados. Todos esses fatores as afastam cada vez mais das ciências (TONDREAU, 2008).
No caso aqui em estudo, apesar das múl-
tiplas e diversas dificuldades encontradas pelos imigrantes haitianos, existe um sentimento geral de gratidão por fazer parte da história da Universidade. No entanto, isso não ocorre sem sofrimento. Sofrimento ligado às pressões acadêmicas (conforme descrevemos antes, entre elas, a dificuldade com a língua, de formar grupos de estudos e outras relações do âmbito universitário); sofrimento relacionado às diferenças étnicas ou de origem étnica. Quanto ao sofrimento devido à origem étnica, Fillion et al. (2008) dirão que é uma forma de violência social que se manifesta de várias maneiras e tem impacto sobre o indivíduo gerando traumas. Quem são as vítimas e o que elas querem? Como podemos atentar ao perigo que o trauma representa nas sociedades humanas? Segundo os autores, as vítimas de trauma sofrem de uma violência social que a própria sociedade cria, ou seja, trauma é a consequência do sofrimento da violência social que a sociedade provoca.
Aqui nesta pesquisa, evidenciamos que o preconceito é uma das formas de violência mais relatadas, e isso ocorre em vários formatos: dificuldades para integrar grupos de trabalho e ausência de comunicação entre os integrantes das salas de aula são apenas algumas delas. O preconceito é um dos moldes que o racismo usa para se manifestar. Essa situação traz consequências traumáticas, como solidão e isolamento, sentida aqui por 57,1% dos entrevistados.

Quanto ao restante, cerca de 14 % se declaram indiferentes, ansiosos ou desanimados e 38% afirmaram não desenvolver com frequência uma boa relação na sala de aula, sendo os momentos de conversa bem escassos. Todas essas situações evidenciam

a falta de comunicação como impeditivo à integração e socialização dessa comunidade dentro do ambiente universitário (PIERRE, 2020).
Segundo Fillion et al. (2008), “o trauma, torna a vítima um ser comum lutando com um evento extraordinário” (FILLION et al., 2008, p. 114). Ainda assim, os estudantes haitianos afirmam que é por sua vontade própria e motivação interna que não desistem, caso contrário, já teriam abandonado os cursos. Essa resiliência que os caracteriza tem várias razões, dentre as quais se destaca o sentimento de privilégio de ser um aluno da UFPR, quando comparam, por exemplo, a sua situação com a de uma grande quantidade de brasileiros que gostaria de estar no lugar deles e não consegue. Outro fator de incentivo é a chance de romper com a visão de que os haitianos migram apenas para entrar no mercado de trabalho e que não teriam capacidade de fazer parte da comunidade intelectual brasileira.
Em relação às perspectivas para o futuro, são diferentes as opiniões da comunidade estudantil. Cerca de 19% deles desejam retornar ao país após a formatura, 52,4% desejam permanecer no Brasil e 28,6% desejam ir para outros países. Entre os que desejam permanecer, 6,9% desejam fazer o mestrado e 14,3% almejam o doutorado. Independentemente das dificuldades de sociabilização e das diferenças culturais, isso parece mostrar que os haitianos, como
costumam dizer, “são guerreiros e são muito resistentes”. Ser um imigrante haitiano em Curitiba, com base nesses dados, é realmente ser um guerreiro resistente às influências depressivas. Pois é uma luta contínua que requer muita moral, vontade e perseverança (PIERRE, 2020).
Considerações finais
Os imigrantes haitianos em Curitiba enfrentam diferentes obstáculos ligados à hospitalidade, ao acolhimento, às interações no cotidiano na sociedade, à língua, à cor da pele, ao trauma, ao preconceito, entre outros problemas. É importante e necessária uma política pública consistente de hospitalidade e de acolhimento, que reduza os problemas enfrentados por esses imigrantes e melhore o relacionamento entre os imigrantes e a sociedade em toda a sua integralidade. Torna-se necessário ampliar os estudos sobre essa população imigrante, visando buscar entender o porquê de ser tão difícil para a comunidade haitiana se socializar e se relacionar na sociedade curitibana, levando em consideração as particularidades dessa relação, inclusive as socioespaciais.
REFERÊNCIAS
AROSTEGUY, Agustín. Territorio y música - un diálogo, múltiples ecos: entre tonalidades, sonoridades, acústicas y bullicios de los espacios. In: GEOgraphia, vol. 22, n. 49, 2020, p. 1-12.
BÉCHACQ, Dimitri. Histoire(s) et actualité du vodou en Ile-de-France - Hiérarchies sociales et relations de pouvoir dans un culte haïtien transnational. In: Collectif Haïti de France, Studies in Religion/Sciences Religieuses, vol. 41, n° 2. Paris: 2012, 257 p. Disponível em: http://www.collectif-haiti.fr/vaudou.php. Acesso em: 03/07/2019.
BLANC, Anthony. Rekonstriksyon: la pratique clinique médiée en situation de post-urgence. Port-au-Prince, 2010.
BONNEMAISON, Joël; AMBREZY, Luc. Le lien territorial entre frontières et identités. In: Géographie et cultures. Nº 20, 1996. p. 7-18.
BOUCHARD, Russel-A. Du racisme et de l’inégalité des chances au Québec et au Canada. Chicoutimi, Saguenay. La Société du 14 juillet 2002. 178 p.
BRITO, R. H.; MARTINS, M. de L. Considerações em torno da relação entre língua e pertença identitária em contexto lusófono. In: Anuário Internacional de Comunicação Lusófona, n. 2, 2004, Federação Lusófona de Ciências da Comunicação, São Paulo, p. 69-77.
CARVALHO, Souza André de. O urbano como espaço do conflito. In: Vivendo às margens: habitação de interesse social e o processo da segregação socioespacial em Curitiba. Dissertação (Mestrado em Urbanismo, História e Arquitetura) - Faculdade de Urbanismo, História e Arquitetura, Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2014, p. 39-57.
CASIMIR, Jean. Théorie et définition de la Culture Opprimée. Port-au-prince: Imprimerie/Média-texte, 1981.
CHIVALLON, Christine. Repenser le territoire, à propos de l’expérience antillaise. In: Le territoire, lien ou frontière? Paris, 2-4 octobre, 1995.
CLAVAL, Paul. “A volta do cultural” na geografia. In: Mercator, Fortaleza, v. 1, n. 1, 2009, p 19-28.
COMANDULLI, Sandra Patricia Eder; et al. Roda Conversações sobre Hospitalidade. Caxias do Sul: Universidade de Caxias do Sul, 2015, 124 p.
CORRÊA, Mello de Aureanice. O Sagrado é divino, a religião é dos homens: territórios culturais e fronteiras simbólicas, a intolerância religiosa na contemporaneidade. In: Espaço e Cultura, UERJ, RJ, N. 31, 2012. p. 125-138.
CROZAT, Dominique. Jogos e ambiguidades da construção musical das identidades espaciais. In: DOZENA, A. (Org.). Geografia e música: diálogos. Natal: EDUFRN, 2016, p. 13-48.
DERRIDA, Jacques. L’Université sans condition. Paris: Éditions Galilée, 2001.
DÉSINOR, A. Carlo. La tragédie des libertés. vol.1. Port-au-Prince: Edition du Centenaire (le Nouvelliste), 1997. 283 p.
DEUXANT, Benoit. Migration et musiques (2): entretien avec Marco Martiniello. Disponivel em: https://www.pointculture.be/magazine/articles/focus/musique-et-migration-entretien-avec-marco-martiniello/. Acesso em : 23/10/2021.
DUFOURMANTELLE, Anne; DERRIDA, Jacques. Anne Dufourmantelle invite Jacques Derrida à répondre de l’Hospitalité. Paris: Calmann-Lévy, 1997.
FICK, E. Carolyn. La révolution de Saint-Domingue - de l’insurrection du 22 août 1791 à la formation de l’État haïtien. In: HURBON, Laënnec. L’insurrection des esclaves de Saint-Domingue - 22-23 août 1791. Paris: Éditions Karthala, 2000, p. 55-68.
FILLION, Emmanuelle; FASSIN, Didier; RECHTMAN, Richard. L’Empire du traumatisme. Enquête sur la condition de victime. In: Sciences Sociales et Santé. Volume 26, n°2, 2008, p. 113-117.
FROUILLOU, Leïla. Les écarts sociaux de recrutement des universités d’Île de France: un processus de ségrégation. In: ERES | Espaces et sociétés, n° 159. 2014, p. 111-126 .
_____. Ségrégations universitaires en Île-de-France. Inégalités d’accès et trajectoires étudiantes. Paris, La Documentation française, coll. Études & recherches de l’Observatoire national de la vie étudiante. 2017. 207 p.
FROUILLOU, Leïla; MOULIN Léonard. Les trajectoires socialement et spatialement différenciées des étudiants franciliens. Formation emploi, n°145, 2019, p. 1-22.
GEDIEL, José Antônio Peres; CASAGRANDE, Melissa Martins. A migração haitiana recente para o Brasil: bases teóricas e instrumentos político-jurídicos. In: Monções: Revista de Relações Internacionais da UFGD, v.4. n. 8. 2015, p.97-110.
GIL FILHO, S. F. Paisagem religiosa. In: JUNQUEIRA, S. (Org.). O sagrado. Curitiba: IBPEX, 2009, p. 93 – 117.
GOVAIN, Renauld. Entwodiksyon Akademi Kreyòl Ayisyen an: Pou kreyòl la jwenn plas li nan peyi a. Disponível em: <http://tanbou.com/2013/EntwodiksyonAkademiKreyolAyisyen.htm>. Acesso em: 16/07/2019.
HAESBAERT, Rogério. Dilema de conceitos: espaço-território e contenção territorial. In: SAQUET, Marco Aurélio; SPOSITO, Eliseu Savério (Org.). Territórios e territorialidades: teorias, processos e conflitos. 1 ed. São Paulo: Expressão Popular, 2009, p. 95-120.
_____. Paul Vidal de la Blache (1845-1918) - «Estados e Nações»: Vidal no cruzamento entre as dimensões política e cultural da geografia. In: GEOgraphia, 11(22), p. 128-153.
HERREA, Javier; et al. L’évolution des conditions de vie en Haïti entre 2007 et 2012: la réplique sociale du séisme. Paris; Port-au-Prince: 2014, p. 28-29.
HURBON, Laënnec. O Deus da resistência negra: o vodu haitiano. São Paulo: Paulinas, 1987.
JOLIVET, Marie-José; LÉNA, Philippe. Des territoires aux identités. In: Autrepart (14), 2000, p 5-16.
MÉTRAUX, Alfred. L’Afrique Vivante en Haïti. In: Présence Africaine, nº. 12, 1951, p. 1321. Disponível em: <www.jstor.org/stable/24346529>. Acesso em 25/02/2021.
MEUDEC, Marie. Penser la perpétuation des préjugés à propos d’Haïti et des haïtiennes: altérisation, racisme, imaginaire colonial et hégémonie blanche. In: Revue-rita, 2017, p. 1-23.
MFABOUM, Edmond Mbiafu. Haïti et l’Afrique: douleurs des destinées, spécularité des douleurs. In: Africultures , n° 58, 2004, p.150-160.
MISOCZKY, Ceci Maria; BÖHM, Steffen. Resistindo ao desenvolvimento neocolonial: a luta do povo de Andalgalá contra projetos megamineiros. In: Cad. EBAPE.BR, v. 11, nº 2, artigo 6, Rio de Janeiro, 2013, p. 311-339.
PROSPERE, Renel; GENTINI, Alfredo Martin. O Vodu no universo simbólico haitiano. In: Universitas Relações Internacionais, Brasília, v. 11, n. 1, 2013, p. 73-81.
QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. In: A co-
lonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas. CLACSO, Consejo Latino-americano de Ciencias Sociales. Buenos Aires, 2005, p. 117-142. Disponível em: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/sursur/20100624103322/12_Quijano.pdf. Acesso em: 26/08/2020.
RABENORO, Aubert; METRAUX, Alfred. Le Vaudou haïtien. In: Archives de sciences sociales des religions, n°47/2, 1979, p. 279-281.
SANTOS, Caetano Maschio. Ayisyen Kit Lakai (Haitianos deixam suas casas): Um estudo etnomusicológico do musical de artistas imigrantes haitianos no estado do Rio Grande do Sul . Dissertação (Mestrado em Música) – Faculdade de Música, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2018, 173 p.
SOUZA, Marcelo Lopes de. “Território” da divergência (e da confusão): em torno das imprecisas fronteiras de um conceito fundamental. In: SAQUET, Marco Aurélio; SPOSITO, Eliseu Savério (Org.). Territórios e territorialidades: teorias, processos e conflitos. 1 ed. São Paulo: Expressão Popular, 2009, p. 57-73.
SOUZA, José Arilson Xavier de. Estudo geográfico-cultural da religião: a ressignificação do espaço por meio do santuário. In: Espaço e Cultura, n. 28, 2010, p.54-70.
TONDREAU, Jean Luc (Coord.). Tendances récentes et situation actuelle de l’éducation et de la formation des adultes (EdFoA) - Rapport national de la République d’Haïti. UNESCO, 2008.
TORRES, Alberto Marcos. Tambores, rádios e videoclipes: Sobre paisagens sonoras, territórios e multiterritorialidades. In: GeoTextos, vol. 7, n. 2. 2011, p. 69-83.
UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL (UCS). Roda Conversações sobre Hospitalidade. Rio Grande do Sul, 2015. 124 p.
VALDUGA, Manoela Carrillo. O Território como lugar de hospitalidade. In: CENÁRIO, Brasília, V.5, n.8, 2017, p. 1-31.
WIEVIORKA, M. O Racismo, uma introdução. São Paulo: Perspectiva, 2007.
Outros:
Geografia para que(m)?. Episódio 22 (Patrimônio Afetivo). Spotify. Dec. 2020. 91 minutos. Disponível em: https://open.spotify.com/episode/6qahY0TXhZbgjrQUF3YQUi. Acesso em: 17/06/2021.
ENTEGRASYON ETIDYAN AYISYEN YO NAN UFPR
Rezime
Nan atik sa, mwen prezante rezilta yon etid ki fèt sou prosesis entegrasyon yon gwoup imigran ayisyen nan UFPR, nan vil Curitiba, fwi yon rechèch inisyasyon syantifik avèk abòdaj ki baze nan diskisyon sou ospitalite e rasis, prejije, segregasyon epi lòt diskriminasyon. Mwen analize eleman abòdaj sa a pati kèk kontribisyon dekolonyal de Anibal Quijano, Jacques Derrida, antre lòt referans. Entèpretasyon ak teknik pou jwenn done ki itilize yo se te kominikasyon enfòmèl, kestyonè, revizyon bibliyografik, rechèch dokimantal,
sistematizasyon ak analiz done ki koltekte yo. Nou pwoblematize nan rechèch sa ke kondisyon ospitalite yo fini pa anpeche entegrasyon ak sosyalizasyon imigran ayisyen yo, ki mennen yo, nan anpil ka, nan yon santiman de enferyorite. Avèk rechèch sa tou, nou rapwoche de pèspektiv fiti ke imigran sa yo imiajine epi chòk sa pwovoke, ke anpil moun ki entèvyouve yo remak, kòm yonn nan prensipal pwoblèm ki enplike entegrasyon imigran sa yo nan espas sosyal Inivèsitè Curitiba a.


Mo kle : Imigran Ayisyen, Ospitalite, UFPR

Entwodiksyon
Nan tèks sa, mwen pwoblematize kèk aspè nan entegrasyon ak sosyalizasyon gwoup etidyan imigran ayisyen nan Inivèsite Federal Parana (UFPR), ki nan vil Curitiba, pa mwayen entèvyou, rechèch dokimantè ak revizyon bibliyografik, ki abòde sitiyasyon akèy, ospitalite ak prejije.
Kontèks sosyokiltirèl vil Curitiba, kote etidyan imigran ayisyen sa yo ap etidye a, genyen yon konplèksite fenomèn ki enplike prejije, segregasyon, diskriminasyon ak frajilite pwosesis entegrasyon ak sosyalizasyon, an jeneral, an rezon ki lye ak orijin etnik etidyan yo.
Kòm sa rive prèske tout imigran, entegrasyon yo nan nouvo espas enplike difikilte, tankou rankontre yon lojman ak travay, avèk agravasyon an, an jeneral, gen pou fè fas ak diskriminasyon etnik ak rasyal (BERNÈCHE,1983). Nan ka Curitiba, kesyon abitasyon an se, an reyalite, se yon eleman enpòtan, paske fòmasyon espas iben sa make istorikman pa inegalite (CARVALHO; SUGAI, 2014). Vil la prezante de (2) fasèt diferan epi opoze : yonn, se teritwa kote yon moso popilasyon ke leta byen sèvi ap viv, lòt la, espasyalman epi sosyalman mwens estriktire, kote pati nan popilasyon an nan yon kondisyon prekè, nan sa ki gen
Dieugo Pierre (UFPR)
Tradução: Rony Remy

rapò ak sèvis epi travay. Daprè Carvalho (2014), kòm pwodwi sosyal, espas sa se rezilta yon ansanm mouvman epi aksyon moun otou de konsomasyon epi eksklizyon.
Se nan Curitiba divize sa a, nan mitan yon prèske absans politik akèy make ak sèn prejije, eksklizyon, rasis epi zenofobi, selon Bomtempo ak barbosa (2019), ke pwosesis entegrasyon popilasyon ayisyen an fèt. Nou pral wè avèk Vieira (2016) ke genyen kèk dòz ideyoloji branchiman epi selektivite imigran yo, ki fè ke prejije ak diskriminasyon rasyal bay difikilte pou entegrasyon imigran ayisyen yo, prensipalman nan sa ki gen rapò ak jwenn yon kote pou abite. Nan konpreyansyon nou, sa kontribye pou konsantre imigran sa yo (ki gen ladan etidyan imigran ayisyen ki enskri nan UFPR) nan katye lwen epi periferik de vil Curitiba, menm si se nan sant lan, nan kondisyon ki plis prekè. Ou byen, yon reyalite ki mete an evidans non sèlman prejije ak diskriminasyon rasyal, men tou sosyal epi ekonomik nan vil la, yon bagay ki rann entegrasyon imigran sa yo nan espas sosyal Inivèsite a ankò plis difisil epi ki jenere diferan chòk. Mwen konprann prejije a, diskriminasyon an epi segregasyon espasyal la kòm kesyon santral ki kondwi nan pwoblèm entegrasyon an.
Nou pral diskite kòman prejije fèt non
sèlman nan atak vèbal, men tou nan zak tankou kenbe imigran sa yo deyò nan kèk espas sosyal akòz orijin jeyografik yo, men sitou istorik; kòm segregasyon espsyal la, se yon fòm kote kèk gwoup ekskli nan kèk espas, sa mache men nan men avèk diskriminasyon, kote kèk gwoup rasyalize prive de kèk dwa oubyen privilèj sosyal. An plis de sa, nou pral prezante kèk rezon ki fè yon endividi oswa yon gwoup endividi kapab se sib de yon zak rasis, pami yo, prejije sou kèk « devyasyon politik » (ki baze sou afimasyon pèp ayisyen an ta ka sèvi kòm yon move egzanp poutèt yo se te revolisyonè ak moun k ap poze kesyon); kontèks ekonomik peyi yo (povrete jeneralize, anpliye avèk ensèsyon chak fwa plis nan mond globalize a) ; inyore koutim ak kilti yo, mete yo kòm yon ras enferyè (BOUCHARD, 2002). Sa yo se kèk nan pwoblèm ki enfliyanse entegrasyon etidyan ayisyen sa yo nan UFPR, ke nou pral abòde depi kounye a.
Etdyan ayisyen yo fas inivèsite pou
tout moun
Derrida (2001), nan tèks « L’Université sans condition »1 , envite nou panse sou inivèsite enkondisyonèl la, yon inivèsite ki ale pi lwen ke libète akademik. Yon refleksyon ki panse inivèsite a tankou yon espas piblik de transfòmasyon, de rezistans kritik, ki opoze a nenpòt fòm de pouvwa ak apwopryasyon dogmatik epi enjis. Nan dyalòg avèk pèspektiv sa, nan ane 2014, UFPR te reyalize yon patenarya avèk Cátedra Sérgio Vieira de Melo, ajans Nasyon Ini pou Refijye (ACNUR), ki te etabli Pwogram Politik Migratwa
epi Inivèsite Brezilyèn (Programa Política Migratório e a Universidade Brasileira (PMUB). Daprè rezolisyon 13/14-CEPE epi rezolisyon/lejislasyon konplemantè yo, li te vin posib pou imigran ak refijye yo antre nan UFPR, nan plas ki vid ki rete nan plizyè kou (GEDIEL; GODOY, 2016). Pwogram sa a, ki te ajoute ak lòt efò, tankou aplikasyon Pwogram Akò Etidyan (PEC-G)² Ministè Afè Etranjè a ak Ministè Edikasyon an, ansanm ak egzamen espesyal pou refijye/ migran yo, te fasilite antre etidyan etranje yo. Tout sa te garanti aksè imigran yo nan Inivèsite a, konpoze yon aspè enpòtan nan ospitalite, kote Leta a dwe bay atansyon epi fè prevalwa. Toujou, jan nou pral wè, gen lòt pwoblèm konsènan ospitalite yo ofri imigran an ki bezwen pi byen trete, jan mwen prezante nan pwochen seksyon an.

Ospitalite fas a kondidyon raysal e
sosyal
Ospitalite a se yon valè kote akseptasyon lòt la egzèse de manyè enkondisyonèl epi gratis, pou tout popilasyon migran yo, menm sa yo ki pi vilnerab epi ki nan nesesite. Daprè lwa kosmopolit Emmanuel Kant, dwa a ospitalite inivèsèl se yon dwa de vizit ant moun, ki soti nan libète ale vini ke chak moun genyen kòm yon abitan sou latè; se pouvwa pou deplase nan nenpòt espas san yo pa kouri dèyè yo kòm yon etranje oswa trete yo kòm yon lènmi jiskaske yo ta fè zak ostil oswa reprezante yon menas. Objektif lwa kosmopolit kantyana se etabli yon viv ansanm pasifik ant moun ki deplase atravè espas. Nou dakò ak lojik viv ansanm
kantyana, Emmanuel Levinas adopte yon abòdaj ki lye a kesyon « mwen » ki pwopoze ale rankontre lòt la san adrès epi anrasine sa yo ye. Selon otè a, lè sa kase, li kreye yon chòk, transfòme ospitalite a an ostilite (UCS, 2015).
Pou Jacques Derrida, ospitalite a se menm jan ak yon seri fwontyè ki, menm si yo sanble yo se espas fwontyè, endike posiblite yo nan rekonesans ak simonte li. Menm kondisyon yo, règ, dwa ak devwa enpoze moun kap resevwa moun epi tou sou moun ki ap resevwa resepsyon an, kreye yon difikilte, oswa menm yon enposibilite, konfòme yo ak lwa a nan Ospitalite enkondisyonèl la. Nan fwontyè a, oswa, nan limit ant lwa ospitalite epi lwa enkondisyonèl ospitalite a, gen kesyon konplèks ki parèt, ki fè refleksyon sou ospitalite a yon prensip etik, enkondisyonèl epi enfini; ospitalite a reyalize kòm responsabilite ki tradwi an pawòl ak jès; lang lan konstwi yon paradòks nan ospitalite a, paske, li sèvi tankou fòm akèy, an menm tan tou li pwovoke ostilite, deja li enpoze a envite a (COMANDULLI, 2015).
Nan sans sa, ankò daprè Derrida (2001) ospitalite enkondisyonèl la pa defini pa okenn lwa, , wi a moun ki fenk vini an, etranje oswa imigran, ak yon envite oswa vizitè inespere, kenpót moun ki fèk vini an, li mèt se te sitwayen yon lòt peyi oubyen non, se enkondisyonèl. Poutan, lòske ospitalite a ofri avèk baz nan estati rasyal, pami lòt yo, sa kapab enplike, pafwa, yon santiman de siperyorite yon gwoup sou lòt, epi konsa, mete lòt la nan yon pozisyon de enferyorite, ki jenere pwoblèm. Nan limyè konsèps hospitalite otè sa yo, mwen chèche konprann, an konsekans, sitiyasyon ke imigran ayisyen yo rankontre nan espas

sosyal UFPR. Mwen mete aksan, nan rechèch mwen an sou fòm ospitalite ke yo ofri pandan nap konsidere kondisyon rasyal, sosyal, pami lòt yo, epi konsekans ke yo genyen sou gwou imigran sa yo.
Dapre rapò entèvyou yo, mwen remake ke majorite etidan ayisyen yo, malgre yo resevwa apwi materyèl epi biwokratik aksè a inivèsite a, nou santi nou limite epi pa entegre nan plizyè aspè nan espas sosyal inivèsite a. Kòm egzanp, yo remake relasyon epi viv ansanm andedan kèk espas, tankou sal de klas, patisipasyon nan laboratwa yo ak inisyasyon syantifik, nan anviwònman respektif kou yo ap fè yo,. Nan yon temwanyaj ke mwen kolekte nan peryòd entèvyou yo, yon etidyan imigran ayisyen ki rele Pradel Joseph3 rakonte : [...] mwen pa santim konfòtab [...] mwen santim kòm yon moun diferan de lòt yo. [...] prezans mwen pa trè enpòtan pou kolèg mwen yo. [...] limit ki egziste ant mwen ak kolèg mwen yo, yo chak gen gwoup zanmi yo, pa gen dyalòg ant mwen menm ak kòlèg brezilyen mwen yo.
Rapò sa sanble gen relasyon avèk konklizyon ke Derrida (1997) fè, daprè li se ta yon bagay egzajere mande yon etranje konprann epi pale yon lang, nan tout sans tèm nan, nan tout ekstansyon posib li yo, avan ou resevwa li.
Selon moun ki bay entèvyou yo, se trè komen, nan espas sosyal brezilyen an, ke yo se sib tout tip mechanste, epi ki kabap rive poutèt yo pa nan tèritwa sosyal orijin yo.
Pradel Joseph deklare:
Plizyè fwa nan travay mwen, lè brezilyen yo vle fè yon bagay oswa pa vle fé yon bagay, yo di jeran ke mwen di mwen pa vle fè tèl bagay, pandan ke mwen pa di anyen. Yo toujou di sa ke mwen pa di, paske mwen se etranje. .
Malgre yo pa nan tèritwa sosyal orijin yo,
imigran sa yo gen dwa menm jan ak tout brezilyen, men jan ke yo dwe ranpli devwa yo. Pati de pwoblèm ki lye a kesyon sa a, ke imigran ayisyen yo mansyone a, yo kapab jwenn yon esplikasyon a pati de yon entèpretasyon kèk fè istorik, politik epi ekonomik, ke, depi peryòd esklavaj jiska peryòd tibilans politik epi ekonomik ki pi resan nan peyi dayiti, ki itilize souvan nan trètman imigran ayisyen yo nan diferan tèritwa ke yo migre.
Deja kesyon estigmatizasyon sosyal make pa prejije rasyal fè nou panse anpil sou konsèp kolonyalite pouvwa de Aníbal Quijano, a pati de sa otè a eksplike enpozisyon kilti dominan an ak rès mond lan. Daprè Quijano, kolonyalite a se etablisman yon ansanm nòm sosyal epi etnik, ki pèmèt Ewopeyen yo afime siperyorite kòm pèp dominan sou pèp ke yo mete nan esklavaj la a pati de ide ki lye ak ras, ki baze nan yon estrikti biyolojik. Li reyini tout fòm istorik kontwòl travay yo, resous yo epi pwodwi yo, nan kapital ak mache mondyal.

Kilti dominan an inyore lòt gwoup moun yo : ki se ka ayisyen yo
Fè istorik, politik ak ekonomik, depi peryòd esklavaj rive nan peryòd tibilans politik ak ekonomik ki pi resan yo an ayiti, yo itilize pou karakterize imigran ayisyen an kote li ye, inyore kilti li ak idantite li. Marie Meudec (2017), panse sou pwosesis deplasman ak estigmatizasyon ki afekte kominote ayisyen yo nan divès sosyete, konprann pèpetyasyon esteryotip tankou yon pwosesis istorikman konstitiye epi soyalman ankre nan nosyon alterite, imajinè kolonyal ak ejemoni blan. Téritwa ayisyen
an gen yon istorik revolisyonè ak kestyonè, ki pafwa kapab sèvi egzanp pou lòt tèritwa yo. Poutan, karakteristik sa te devalorize, tankou, pa egzanp, nan yon deklarasyon ex-prezidan Etazini, Franklin D. Roosevelt, ke daprè Désinor (1997), li ta afime ke yo bezwen leve kontinyèlman pye ki gen sapat kont moun ki san sapat, paske, se sèlman konsa, yo kapab etabli yon predominans sou peyi nèg sa yo ki te pran endepandans li ak zam epi ki se yon move egzanp pou 28 milyon nèg nan Amerik la.
Reprezantasyon ayiti sa ak ayisyen yo kapab konprann a pati relasyon ki egziste antre reprezantasyon epi pouvwa kolonyal la. Reprezantasyon sa lye ak yon imajinè kolonyal ki ankre nan pratik neokolonyal yo. Selon Misoczky ak Böhm (2013), pratik neokolonyal la se relasyon neokolonyal ejemoni jeoekonomik, jewopolitik ak jewokiltirél, ki fonksyone efektivman pa mwayen konstriksyon aktiv moun yo ak òginizasyon ki lokalize nan nasyon yo ak kominote yo. Yo fè pati mond reyèl la ; se pratik sosyal reyèl, ki souvan estigmatize, dezimanize epi diskrimine sitwayen ayisyen yo. Relasyon sosyal yerachik sa yo kapab pèsevwa pa sèlman nan diskou kotidyen oswa nan medya yo, men tou nan diskou syantifik.
Deja nan peyi Brezil, aktyèlman, yonn nan diskou ki plis gaye toupatou sou tèritwa ayisyen an se sa ki fè kwè ke ayiti se yonn nan peyi ki plis pòv nan planèt la (nan kontèks devlopman kapitalis la)(HERREA et al., 2014), avèk yon reyalite sosyoekonomik trè kritik epi kawotik. Yon diskou ki kontribye nan konstwiksyon diferan tip diskriminasyon ak prejije ke ayisyen yo soufri nan tout pati mond lan.

Prejije, segregasyon epi diskriminasyon se mwayen ke rasis lan itilize pou li manifeste sosyalman, touche imigran ayisyen nan diferan fòm sou teritwa brezilyen an. Daprè Meudec (2017) ak Wieviorka (2007), rasis sistemik lan se fay enstitisyon yo nan bay sèvis adekwa ak moun sou baz kondisyon rasyal, ki pa karakterize, pa zak diskrriminasyon eksplisit epi ouvè, men difize nan distribisyon sèvis, benefis epi opòtinite ak diferan segman popilasyon an. Anpil eleman konstityan idantite ayisyèn nan te deja objè rasis sistemik sa, tèlke : vodou ayisyen an, kreyòl la epi menm espas tèritwa ayisyen an.
Aspè kiltirèl yon tèritwa, oswa, jewografi kiltirèl yon espas, anbwase diferan fòm manifestasyon kiltirèl, tèlke relijyon, lang, mizik, pou nou site sa yo sèlman. Sa siyifi ke se abitan nan espas la epi nan relasyon yo ki konstitiye tèritwa pa yo (CORRÊA, 2012).
Aspè sosyokiltirèl tèritwa ayisyen an ak eleman istorik ki enkòpore nan li yo pèmèt konstriksyon yon idantite ayisyèn, kompoze de yon doub eritaj kiltirèl : yonn nan kote wès afriken epi lòt la nan frans, men avèk pwopòsyon varyab, ki depann de milye sosyal ak aspè kiltirèl yo (MÉTRAUX, 1979).
Kote Afro-Ayisyen nan espas sosyal ayisyen an pa gen sèlman dominasyon istorik, men tou koutim oubyen gastwonomi, ki mennen oté tankou Montserrat Palau Marti (1965) di ke Ayiti se Lafrik nan Amerik la, epi lòt, tankou Édouard Glissant, afime ke ayiisyen yo konpoze yon popilasyon transbòdan, ki tounen yon pèp. Kote fransè pèp ayisyen an make pa lang fransè epi edikasyon fransè, yon edikasyon kolonyal ki retade kapasite entèlektyèl etidyan
ayisyen yo, paske li fèt nan yon lang ki pa lang matènèl kotidyen yo (MFABOUM, 2004). Nan kontèks sa, konprann idantite kiltirèl ayisyen an mande anpil atansyon, k´ap diskite epi analize konpleksite konstitisyon an. Sa se paske melanj kiltirèl sa te fèt nan yon long pwosesis vyolans istorik sou tèritwa ayisyen an ki kite mak tris nan popilasyon ayisyèn nan (ki gen ladan imigran yo), pami yo nou mete aksan sou : prejije ak diskriminasyon baze nan rasis epi segregasyon sosyoespasyal4 .
Teritwa ak abitan yo nan relasyon yo revele ke espas lavi a enkilke valè ki pa sèlman materyèl, men etik, espirityèl, senbolik epi afektif. Li kapab menm yon lye pou reve, olye de yon lye pou viv epi abite. Se pa yon prensip materyèl nan afektasyon, men yon prensip kiltirèl nan idantifikasyon epi apatenans, sa ki tradwi pa entansite relasyon li avèk abitan li. Se pou sa, espas lavi a pa dwe parèt kòm yon resous oubyen sipò ekonomik, men kòm yon bagay ki fè pati idantite kolektif sila yo ki abite ladann, ki kenbe yon relasyon esensyèlman afektif, sa ki eksplike enpòtans li kòm konstriktè idantite a (BONNEMAISON; AMBREZY 1996).
Aspè sosyokiltirèl tèritwa ayisyen an ak eleman istorik ki enkòpore nan li yo pèmèt konstriksyon yon idantite ayisyèn, kompoze de yon doub eritaj kiltirèl : yonn nan kote wès afriken epi lòt la nan frans, men avèk pwopòsyon varyab, ki depann de milye sosyal ak aspè kiltirèl yo (MÉTRAUX, 1979).
Kote Afro-Ayisyen nan espas sosyal ayisyen an pa gen sèlman dominasyon istorik, men tou koutim oubyen gastwonomi, ki mennen oté tankou Montserrat Palau Marti (1965) di ke Ayiti se Lafrik nan Amerik
la, epi lòt, tankou Édouard Glissant, afime ke ayiisyen yo konpoze yon popilasyon transbòdan, ki tounen yon pèp. Kote fransè pèp ayisyen an make pa lang fransè epi edikasyon fransè, yon edikasyon kolonyal ki retade kapasite entèlektyèl etidyan ayisyen yo, paske li fèt nan yon lang ki pa lang matènèl kotidyen yo (MFABOUM, 2004). Nan kontèks sa, konprann idantite kiltirèl ayisyen an mande anpil atansyon, k´ap diskite epi analize konpleksite konstitisyon an. Sa se paske melanj kiltirèl sa te fèt nan yon long pwosesis vyolans istorik sou tèritwa ayisyen an ki kite mak tris nan popilasyon ayisyèn nan (ki gen ladan imigran yo), pami yo nou mete aksan sou : prejije ak diskriminasyon baze nan rasis epi segregasyon sosyoespasyal .
Teritwa ak abitan yo nan relasyon yo revele ke espas lavi a enkilke valè ki pa sèlman materyèl, men etik, espirityèl, senbolik epi afektif. Li kapab menm yon lye pou reve, olye de yon lye pou viv epi abite. Se pa yon prensip materyèl nan afektasyon, men yon prensip kiltirèl nan idantifikasyon epi apatenans, sa ki tradwi pa entansite relasyon li avèk abitan li. Se pou sa, espas lavi a pa dwe parèt kòm yon resous oubyen sipò ekonomik, men kòm yon bagay ki fè pati idantite kolektif sila yo ki abite ladann, ki kenbe yon relasyon esensyèlman afektif, sa ki eksplike enpòtans li kòm konstriktè idantite a (BONNEMAISON; AMBREZY 1996).


Relijyon, mizik, lang : eleman kiltirèl detèminan nan fòmasyon idantite
Selon jewograf Mark Edwin Sopher (1967), relijyon an ki se yon fenomèn kiltirèl asosye a yon espas byen detèmine klasisye an de (2) tip : relijyon etnik epi relijyon inivèsèl. Relijyon etnik yo lye ak pratik kiltirèl lokal asosye a yon espas byen detèmine, pandan ke relijyon inivèsèl yo gen pratik
kiltirèl de siyifikasyon komen epi ki pratike rityèl ak dògm ki rekonèt nan diferan lye. Pami pratik inivèsèl sa yo katolik se yonn (CORRÊA, 2012).
Gil Filho (2009) afime ke peyizaj relijye a jenere yon konplèks siyifikasyon de yon ansanm eleman, senbòl epi pratik atikile avèk yon kominote adèp, yon sistèm kiltirèl ki melanje mond lan diferan fason, afime espesifisite ki refere prensipalman a yon anviwònman kominotè. Li, ankò, asosye a repwodiksyon modèl kondisyone pa sikonstans dinamik pratik moun yo ak gwoup yo daprè kontèks sosyokiltirèl yo epi ekonomik. Konsa, vodou ayisyen an, kòm relijyon etnik ak rityèl epi kwayans, te fòme a pati de nesesite èd diven, kote, selon kwayans esklav yo, ta kapab retire yo nan esklavaj epi sèvi kòm oksilyè pou afwonte dye kretyen blan yo nan epòk la. Relijyon sa a se pyè angilè nan konstriksyon tèritwa sosyal ayisyen an epi senbòl rezistans afrikèn nan depi epòk kolonyal la jiska etablisman sistèm kapitalis la (FICK, 1997; PROSPERE; GENTINI, 2013; MÉTRAUX, 1979).
Vodou a, konsa, vin tounen yon vektè enpòtan nan konstriksyon teritwa ak idantite ayisyèn nan, konsidere anpil nan aspè li yo depann dirèkteman de teritwa sosyal aysiyen an (SOUZA, 2010). Li se pati entegran eksperyans sosyoespasyal la prensipalman abitan andeyò yo. Li pa sèlman yon relijyon, men tou yon sistèm atansyon sou sante, ki enkli sante mantal -, ki kouvri pratik gerizon swen sante, prevansyon maladi epi pwomosyon byennèt kolektif epi pèsonèl. Remèd li yo fèt avèk plant epi yo trè popilè nan peyi dayiti tankou lòt bò dlo (BLANC, 2010). Relijyon sa jwenn orijin li nan kilti ayisyèn nan, nan patikilarite espasyal teritwa ayisyen an epi nan volonte pou respekte lye kote evenman ak siyifikasyon bagay yo genyen yon eksplikasyon, ki dwe
rete nan pwòp inivè senbolik li (HURBON, 1987). Relasyon ki egziste ant vodou ayisyen an ak teritwa sosyal ayisyen an trè fò, sa ki mennen Aubert Rabenoro ak Alfred Metraux (1979) di ke ayisyen an te fèt yon patizan vodou, otantik reprezantasyon espirityèl nasyonal teritoryal li ak lespri kreyatif li anvlope ak penetre li an menm tan (RABENORO ; MÉTRAUX, 1979).
Malgre relasyon etwat li avèk tèritwa sosyal ayisyen an, vodou ayisyen an kapab entegre li an depi de limitasyon yo, nan nouvo teritwa sosyal ak nouvèl reyalite tanporèl epi anviwònmantal, nan ka migrasyon. Paske, an reyalite, relasyon sosyal ak kwayans ki enplike li deplase ak transpòtè li yo. Poutan, adaptasyon an nan yon teritwa eksteryè egzije ajisteman nan materyèl, nan rityèl, sitou lè li refere a anviwònman iben. Pa egzanp, nan Miami, nan Etazini, genyen anpil ayisyen ki pratike vodou ayisyen, jwe yon wòl santral nan rezo imigran yo. Sa elon Béchacq (2012), genyen relasyon tou avèk klima « twopikal la » epi avèk kantite imigran ayisyen k´ap viv nan rejyon an. Nan Curitiba, klima move tan lapli se yon antrav, paske kèk rityèl vodou pa kapab reyalize lè gen lapli souvan. Ajisteman materyèl pou rityèl yo tou chak fwa plis difisil akòz konsekans mank entegrasyon, kòm sa egzije yon entèraksyon ki fò antre pratikan yo ak abitan yo, prensipalman nan zòn riral yo. Paske li nesesè pou konnen ki eleman lokal ki ekivalan a materyèl nesesè yo epi tou genyen yon konesans non syantifik plant ki nan brezil yo, pwiske anpil imigran konnen sèlman non yo genyen nan peyi dayiti, sa anpeche yo adapte yo. Malgre genyen yon gwo kantite ayisyen nan Brezil/Curitiba, imigran sa yo pa tounen souvan nan tè natal
yo, jan sa fèt avèk imigran ayisyen Etazini ki abite nan USA sa ki bay difikilte pou moun ki pratike vodou a jwenn materyèl nesesè pou pratik sa.
Lòt aspè enpòtan nan konstitisyon idantite ayisyèn nan refere ak mizik. Daprè jewograf fransè Dominique Crozat (2016), Muzik la se yon mond konplèks ki karakterize pa kèk ide inisyal, pami yo, se yon vektè pou eksperyans lye yo; se yon chan referans pou konstriksyon idantite espasyal endividyèl ak kolektif yo; se yon aktè de transfòmasyon espas an tèritwa; se kreyatè idantite tèritoryal la, etc. Divèsite ki egziste nan abòdaj mizik la pou jewografi a eksplike konpleksite ki enplike tantatif pou konprann inivè sa a. Pou Crozat, « […] mizik la tou chèche idantite li yo nan relasyon espas-tan » (2016, p.30), se poutèt sa, li se yon manifestasyon kiltirèl ke devlope nan espas epi nan tan. Se atravé de li menm, ritm yo, chante yo ak tradisyon dans yo, ke se posib pou retrase mobilite espasyal popilasyon yo ak orijin yo nan peryòd istorik epi pre-iistorik (AROSTEGUY, 2020).
Fas a sitiyasyon sa a, Marcos Alberto Torres (2011) agimante ke peyizaj sonò a, ke muzik la entegre, konstitiye inivè senbolik yon pèp, fason li fè/oswa valorize mizik li ak aspè kiltirè li yo. « [...] mizik fè referans a yon bagay ki ale pi lwen ke sa li ye, li kòm yon sipò de idantifikasyon (CROZAT, 2016, p. 17). Se petèt nan menm pwennvi sa a ke ayisyen yo wè mizik ayisyen an kòm yon zouti revòl, rekonfò ak lamantasyon pou sosyete a. Yon kanal kote sosyete eksprime idantite li, pwojekte tradisyon li yo, fristrasyon li yo, lanmou ak santiman patriyotik li, menm jan sa te ye lè Ameriken yo te premye anvayi teritwa ayisyen an nan lane 1915 -1934,
menm jan se te atravè li ke pèp ayisyen an te di non ak enfliyans amerikèn ak fransè (SANTOS, 2018). Espas kiltirèl idantitè ayisyen an konstwi dyalektikman ant ayisyen epi teritwa li; teritwa sa a reveye nan ayisyen yo diferan tip relasyon, ki genyen patikilarite ki eksprime pa mwayen son, ton, akoustik, nòt. Mizik ayisyèn nan pa sèlman yon sipò pou kilti ayisyèn nan, men li enplike nan pwosesis pwodiksyon kilti sa a (CROZAT, 2016).
Adaptasyon li ak espas sosyokiltirèl li, ke ayisyen yo abòde epi entèprete, vin tounen yon travay atistik ki pa definisyon sibjektif epi an menm tan kolektif. Ki fè li yon son ki konekte ayisyen yo avèk teritwa yo epi memwa li yo, etc. (AROSTEGUY, 2020). Se ka mizik Dr. Louis Achille Othello Bayard, diran premyè okipasyon nò-amerikèn nan ane 1915 -1934, ki tounen yon espès im non ofisyèl peyi a, poutèt li evoke fòtman santiman nasyonalis, osi byen ke nosyon diaspora/egzil epi egzaltasyon vèti tè a ak pèp la. Se yon egzanp notab nan nasyonalis romantik epi nostalji ke Connel ak Gibson idantifye nan chanson fòlklorik ayisyen yo ki asosye ak imigrasyon, kote yo envoke vizyon popilis estil de vi ideyal ak kominote an pafèt amoni (CONNELL; GIBSON, 2003 apud SANTOS, 2018, p. 71). Mizik ayisyèn nan se yon miwa ki reflete reyalite ayisyèn nan.

Karaktè akeyan popilasyon brezilyen an, ki sanble toujou eksite sou lide pou yo fè konesans ak nouvo kilti, pa revele, nan Curitiba, prensipalman an relasyon ak ritm mizik ayisyen an. Sa a enplike anpil pwoblèm, paske mizik se pati enpòtan nan idantite ayisyèn nan, men ki neglije anpil fwa. Pa egzanp, malgre fòt prezans imigran ayisyen yo nan sosyete Curitiba a nan, pa
gen evenman ki esponsorize oubyen espas evenman pou ke sosyete a aprann sou ritm mizikal ayisyen yo. Nan konvèsasyon pa nou avèk moun nou entèvyouve yo ki gen abitid frekante bwat de nwi, di nou ke pa janm gen mizik ayisyèn nan klèb sa yo. Pou DEUXANT (2019), mizik nan lavi yon imigran se yon pa enpòtan nan prezèvasyon idantite li, se eleman ki lye li ak orijin li epi, pou ankouraje pwogresyon pou kilti akèy la.
Anpil fwa, kèk natif montre yon konpòtman entoleran avèk imigran yo lè yo itilize lang yo pou kominike avèk konpatriyòt yo epi entolerans sa pafwa rive nan agresyon vèbal. Eritaj popilè immaterial , chaje ak emosyon e afeksyon, ki bati nan lavi chak jou, jeneralman viktim de envizibilite ki enpoze sou moun ki soti nan peyi sa yo rele “soudevlope”, kote eritaj emosyonèl yo toujou envizib nan benefis eritaj peyi “devlope”. Lafrans fè tout sa yo kapab pou garanti vizibilite patrimwàn lengistik li nan peyi dayiti, li entwodwi li nan milye akademik ayisyen an, nan enstitisyon leta epi lòt kote. Malgre sa a, abitan yo pa santi yo totalman idantifye avèk lang sa a; okontrè, se kreyòl ki konsolide li kòm patrimwàn rezistans epi afwonte fransè a.
Se poutèt sa, lang kreyòl ayisyen an, tankou patrimwàn emosyonèl nasyonal pèp ayisyen an, reprezante memwa pase ak esperans pou fiti, menm si enpòtans li te pilonen anba pye pandan plizyè lane. Paske, sèlman nan mitan ane 1970, ki te gen yon deba sou fiti li nan espas eskolè ak inivèsite ayisyèn nan, epi, sèlman nan lane 1987, konstitisyon ayisyèn nan te ajoute yon atik ki egzije kreyasyon yon espas akademik pou kreyòl ayisyen an. Malgre li te toufe pandan anpil ane sa yo, kreyòl ayisyen an se inik lang ki etabli lyen emosyonèl epi
sosyal pami ayisyen epi teritwa ayisyen an, paske se lang matènèl ke tout moun pale, sa ki pa anpeche ke moun ki pale li yo viktim diskriminasyon nan favè lang fransè a (GOVAIN, 2013).
Mank konesans jeneral sou rich idantite kiltirèl ayisyèn nan an anpeche yon konpreyansyon pwofon sou imigran ayisyen an jodi a, paske yo meglije tout yon seri eleman ki konstitye ayisyen kòm yon moun, ki gen yon idantite lye ak yon istwa, yon espas jeyografik ak yon kilti. Ideyalizasyon ak devlopman lide sa yo anrapò ak imigran ayisyen yo pa sèlman akòz izolasyon eleman sa yo, men tou, mank dezi pou konnen yo. Sa ki, elwanye imigran yo kòm si yo se yon fantom, e ki konstwi yon imaj tris, ki kontribye anpil pou anpliyasyon prejije a. Konsa, gen konesans sou sa, ap louvri chemen pou yon nouvèl konsepsyon, kontrè a sila ki pwone destriksyon lòt lakote sistèm sosyoekonomik mondyal la itilize ras ak kilti nan fason depresyativ, enpoze yon transfòmasyon ki garanti ejemoni kiltirèl, politik, ekonomik epi sosyal.
Nou konnen ke gen yon anpil literati sou pwoblèm sosyal nan inivèsite a, sepandan, nou reyalize ke gen yon mank de etid sou apwòch sosyo-espasyal sou pwoblèm ki prezan nan inivésite a . Anpil nan travay yo konsène domèn akademik ak demokratizasyon edikasyon an, yo neglije apwòch sosyo-espasyal ki prezan nan pwoblèm inivèsite a (FROUILLOU, 2014). Espas se rezilta relasyon sosyoekonomik ki gen nan leta, kòm pwodiktè ak distribitè byen ak sèvis, yonn nan prensipal aktè nan pwodiksyon esapasyal. Entansyon li yo kapab ekilibre oubyen dezekilibre relasyon antre espas yo, ki pwodwi yon dezekilib

nan aksè ak sèvis, enfrastrikti, transpò epi kominikasyon, etc. Sa a kapab mennen, anpil fwa, nan yon sitiyasyon segregasyon epi eksklizyon mòso popilasyon nan aksè ak katye oswa rejyon ki benefisye sèvis sa yo (CARVALHO, 2014).
Se te sa ki te rive avèk entèvansyon dezekilibre oubyen inegal nan Curitiba, kote genyen zòn ke administrasyon piblik la byen sèvi- tankou Batèl, Àgua Verde, Bigorrilho, Cabral, Juvevê, Vila Izabel, Cristo Rei, Portão – epi zòn ki trete tankou paran pòv – tankou Cajuru, Cidade industrial, Sítio Cercado, Tatuquara epi Uberaba – ki konsidere kòm plis vyolan nan Curitiba, sa ke Rogério Haesbaert (2009) rele « dominasyon politik » epi Marcelo Lopes de Souza (2009) « relasyon pouvwa ». kèk nan espas sa yo ki devalorize epi meprize se espas de vi plizyè etidyan imigran ki te patisipe nan entèvyou a. Menm si genyen kèk nan yo k´ap viv nan sant vil la, sa pa anpeche ke yo sibi pwoblèm tankou prejije ak diskriminasyon tankou lòt moun ki sòti nan zòn periferik epi vyolan nan Curitiba.
Elèv ayisyen yo káp afwonte
dezekilib sosyoespasyal
Pou jewograf brezilyen Rogério Haesbaert (2009), espas la konsidere kòm yon espas okipe nan yon pwosesis pwodiksyon idantite, sibjektivite epi senbolik, ki se an menm tan yon pwosesis dominasyon politik epi jiridik. Pou Marcelo Lopes de Souza (2009), Teritwa a se yon espas defini epi delimite pa mwayen relasyon pouvwa. Pran an konsiderasyon aspè sa yo, sa ki pwodwi yon espas ak sa ke yon espas pwodwi an teme de relasyon nan yon espas, enpòtan pou konpreyansyon
pwodiksyon espasyal la, ki gen ladan pa mwayen relasyon pouvwa, osi byen kòm lyen emosyonèl ak idantitè, konsa tankou konfli ak kontradiksyon sosyal epi ekonomik ki devlope antre gwoup sosyal yo nan espas la. Malgre nou pa rantre pwofon nan tout kesyon sa yo, nou pral diskite aspè ki pwòch deba sa a ki enplike ospitalite ak akèy nan inivèsite epi karaktè segregasyon sosyoespasyal ki gen lyen avèk li.
Majorite etidyan imigran ayisyen ki te patisipe nan entèvyou a, jan nou te wè li, pa devlope (oswa devlope yon ti kras) relasyon avèk kòlèg yo nan espas inivèsitè a. Joseph Nikson, ki pale sou sitiyasyon relasyonèl li nan espas inivèsitè a, di : « mwen pa gen zanmi nan sal klas la [...]. Mwen pa janm patisipe nan yon fèt avèk kòlèg fakilte a. [...], relasyon ke mwen genyen avèk yo pa bon. Mwen pale yon ti kras avèk yo »(Joseph Nikson).
Manke relasyon sa a soulve anpil kesyon sosyal ki lye ak egzistans yon segregasyon nan mitan etidyan sa yo. Pa manke konvivyalite sa a, se trè frekan pou rankontre etidyan ayisyen sa yo nan ti gwoup oubyen pou kont yo, nan restoran oswa nan lakou inivèsite a. Sitiyasyon ki mennen nan segregasyon etidyan sa yo sòti, an pati, nan distans sosyal epi fizik nan espas inivèsite a, ki, nan yon sètèm manyè lye avèk distans relasyonèl la. Mak distans relasyonèl sa a se absans ospitalite ak akèy.
Malerezman, kontras ki prezan nan espas sosyal vil Curitiba tou sanble prezan nan espas inivèsitè UFPR, nan fòm distans relasyonèl, sa ki kontribye pou segregasyon an (FROUILLOU, 2014). Konsa, kesyon distans relasyonèl la se yon faktè enpòtan pou konprann segregasyon sosyoespasyal
elèv imigran ayisyen yo nan espas inivèsitè UFPR a, paske, toutotan yo plis izole relasyonèlman, se plis yo separe. Epi, chak fwa pi plis, yo pral evite patisipe nan aktivite akademik ki bon pou karyè pwofesyonèl yo, pou yo pa oblije fè fas ak pwoblèm sa a. Konprann kesyon distans relasyonèl sa a pral ede pou fòme yon estreteji pou regwoupe elèv sa yo nan espas inivèsitè UFPR a (FROUILLOU, 2017).
Nou remake ke diskriminasyon an, segregasyon an ak divès vyolans vèbal ke imigran ayisyen yo soufri pa sèlman akoz koulè po, men tou akoz pase istorik yo, fason yo viv ak kilti diferan, ki, lè yo mete yonn nan relasyon ak lòt, nan moman imigrasyon an, fè moun ki enplike yo dwe fè fas ak tansyon ak kreye nouvo enstriman sosyal ki kapab entèveni ak konprann diferans ki genyen nan lavi chak jou. Malerezman sa a pa diferan nan Inivèsite a.
Kò sosyal kominote etidyan ayisyen an nan Univèsite Federal Paraná, sòti nan lane 2012 pou rive 2020, prezante yon konfigirasyon kote gen yon dominasyon nan elèv ki rantre nan Univèsite a byen aksantye.

Tablo 1: Etidyan imigran ayisyen yo nan UFPR 2012-2020
An tèm pwopòsyon sèks sòti nan 2012 pou rive 2020, te genyen 74,3% gason ki enskri nan Univèsite a konpare avèk 25,7% fanm. Nan sa ki gen rapò ak kou yo, rantre etidyan imigran ayisyen trè divèsifye, tankou nou kapab wè pi devan: 76% gason konsantre yo nan domèn syans sosyal aplike kont 24% fanm; nan jeni, 100% se gason; nan syans sante 25% se gason epi 75% se fanm; nan syans imèn, 57,1% se gason epi 42,9% se fanm; nan syans biyolojik, genyen 71,4%
gason epi 28,6% se fanm; nan syans tè ak egzat, 100% se gason, nan syans agrikòl, 80% se gason epi 20% se fanm; epi finalman, nan lengwistik, lèt ak kou atistik, 100% se gason (UFPR, 2020). Kominote etidyan sa a konpoze avèk majorite gason, sa ki ta eksplike pa fòmasyon sosyal ekiltirèl sosyete ayisyèn an, ke yo pa valorize fòmasyon fanm, paske yo pa ofri menm opòtinite pou fanm yo nan syans si nou konpare ak ankourajman ke yo bay gason yo. Depi nan timoun, yo ankouraje fanm yo pou rete lakay, ede manman nan sèvis domestik, jiskaske
Etidyan Imigran Ayisyen nan UFPR 2012-2020
Fason yo rantre Ane Kantite

yo vin gran, konsa yo pa jan gen yon ti tan pou tèt yo, prensipalman nan domèn edikasyon. Yon lòt aspè enpòtan pou konprann dispropòsyonalite twouve nan dinamik sosyete ayisyèn nan pa mwayen relasyon kiltirèl ki plis ankouraje fanm an ayiti a enplike yo plis nan komès angwo epi andetay. Nou kapa di, genyen yon divizon travay natiralize ant gason ak fanm nan kilti a. Depi tou piti, yo oblije akonpaye manman yo ki se komèsan pou ale nan mache. Tout faktè sa yo elwaye ankò fwa plis de lasyans (TONDREAU, 2008).
Nan ka etid sa a, malgre miltip ak divès difikilte ke imigran ayisyen yo rankontre, egziste yon santiman jeneral gratitid poutèt yo fè pati istwa inivèsite a. Poutan, sa pa rive san soufrans. Soufrans lan lye ak presyon akademik yo (jan nou dekri li avan, pami yo, difikilte avèk lang lan, fòme gwoup etid ak lòt relasyon nan milye inivèsitè a); soufrans lan gen relasyon ak diferans etnik oswa orijin etnik. Pou soufrans ki gen rapò ak orijin etnik lan, Fillion et al. (2008) pral di ke se yon fòm vyolans sosyal ki manifeste de plizyè manyè epi ki gen enpak sou endividi a ki jenere chòk la. Kilès ki viktim epi kisa yo vle ? Ki jan nou ka bay atansyon sou danje chòk sa reprezante nan sosyete imèn yo? Selon otè yo, viktim chòk sa yo soufri yon vyolans sosyal ke pwòp sosyete a kreye, oswa, chòk sa se konsekans soufrans vyolans sosyal ke sosyete a pwovoke.
Nan rechèch sa a, nou montre ke prejije a se yonn nan fòm vyolans ki plis relate, epi sa rive sou plizyè fòm: difikilte pou entegre gwoup travay ak absans kominikasyon antre entegran nan sal klas yo se jis kèk nan yo. Prejije a se yonn nan modèl ke rasis lan itilize pou li manifeste. Sitiyasyon sa a pote konsekans chokan, tankou solitid ak izolman, ke 57,1% moun ki te fè entèvyou yo
te santi. Pou rès yo, anviwon 14% deklare yo endiferan, enkyete oubyen dezanime epi 38% te afime yo pa devlope avèk frekans yon bon relasyon nan sal klas la, moman konvèsasyon yo trè ra. Tout sitiyasyon sa yo montre mank kominikasyon kòm yon anpèchman nan entegrasyon ak sosyalizasyon kominote sa andedan milye Inivèsitè a (PIERRE, 2020).
Selon Fillion et al. (2008), “chòk la, fè viktim nan tounen yon semp moun kap lite avèk yon evenman ekstraòdinè” (FILLION et al., 2008, p. 114). Menm si sa, etidyan ayisyen afime ke se pou pwòp volonte yo ak motivasyon ki fè yo pa abandone, nan ka kontrè, yo ta abandone kou yo deja. Rezistans sa ki karakterize yo genyen plizyè rezon, pami yo nou souliye santiman privilejye paske yo se etidyannan UFPR, lè yo konpare, pa egzanp, sitiyasyon yon gran kantite brezilyen ki ta renmen nan plas yo epi ki pa ladann. Lòt faktè ki estimile yo se chans pou kraze vizyon ke ayisyen vin nan peyi a jis pou yo rantre nan mache travay la epi ki pa ta gen kapasite pou fè pati kominote entèlektyèl brezilyen an.

Nan sa ki gen rapò ak pèspektiv pou fiti, se diferan opinyon kominote etidyan te prezante. Anviwon 19% nan yo gen dezi retounen nan peyi yo aprè yo fin gradye, 52,4% dezire rete nan brezil epi 28,6% dezire ale nan lòt peyi. Pami sa yo ki dezire rete nan brezil, 6,9% dezire fè metriz epi 14,3% anvi fè doktora. Endepandamman difikilte nan sosyabilizasyon ak diferans kiltirèl, sa sanble montre ke ayisyen yo, jan yo abitye di, “ se gèrye epi yo trè rezistan”. Yon imigran ayisyen nan Curitiba, a pati de done sa yo, se reyèlman yon gèrye rezistan ak enfliyans depresif. Paske se yon lit kontini ki mande anpil moral, volonte epi pèseverans (PIERRE, 2020).

Konsiderasyon final
Imigran ayisyen nan Curitiba afwonte diferan obstak ki lye ak ospitalite, akèy, ak entèraksyon kotidyèn nan sosyete a, ak lang, ak koulè po, ak chòk, ak prejije, ak lòt pwoblèm. Se enpòtan epi nesesè yon politik piblik konsistan ospitalite ak akèy, ki redwi pwoblèm ke imigran sa yo afwonte epi amelyore relasyon antre imigran yo epi sosyete a nan tout entegralite li. Li vin nesesè pou amplifye etid sou popilasyon imigran sa, ki vize chèche konprann poukisa li tèlman difisil pou kominote ayisyèn nan sosyalize li e relasyone li nan sosyete Curitiba a, mete an konsiderasyon tout patikilarite relasyon sa a, ki gen ladan sosyoespasyal la.
REFERANS BIBLIYOGRAFIK
AROSTEGUY, Agustín. Territorio y música - un diálogo, múltiples ecos: entre tonalidades, sonoridades, acústicas y bullicios de los espacios. In: GEOgraphia, vol. 22, n. 49, 2020, p. 1-12.
BÉCHACQ, Dimitri. Histoire(s) et actualité du vodou en Ile-de-France - Hiérarchies sociales et relations de pouvoir dans un culte haïtien transnational. In: Collectif Haïti de France, Studies in Religion/Sciences Religieuses, vol. 41, n° 2. Paris: 2012, 257 p. Disponível em: http://www.collectif-haiti.fr/vaudou.php. Acesso em: 03/07/2019.
BLANC, Anthony. Rekonstriksyon: la pratique clinique médiée en situation de post-urgence. Port-au-Prince, 2010.
BONNEMAISON, Joël; AMBREZY, Luc. Le lien territorial entre frontières et identités. In: Géographie et cultures. Nº 20, 1996. p. 7-18.
BOUCHARD, Russel-A. Du racisme et de l’inégalité des chances au Québec et au Canada. Chicoutimi, Saguenay. La Société du 14 juillet 2002. 178 p.
BRITO, R. H.; MARTINS, M. de L. Considerações em torno da relação entre língua e pertença identitária em contexto lusófono. In: Anuário Internacional de Comunicação Lusófona, n. 2, 2004, Federação Lusófona de Ciências da Comunicação, São Paulo, p. 69-77.
CARVALHO, Souza André de. O urbano como espaço do conflito. In: Vivendo às margens: habitação de interesse social e o processo da segregação socioespacial em Curitiba. Dissertação (Mestrado em Urbanismo, História e Arquitetura) - Faculdade de Urbanismo, História e Arquitetura, Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2014, p. 39-57.
CASIMIR, Jean. Théorie et définition de la Culture Opprimée. Port-au-prince: Imprimerie/Média-texte, 1981.
CHIVALLON, Christine. Repenser le territoire, à propos de l’expérience antillaise. In: Le territoire, lien ou frontière? Paris, 2-4 octobre 1995.
CLAVAL, Paul. “A volta do cultural” na geografia. In: Mercator, Fortaleza, v. 1, n. 1, 2009, p. 19-28.
COMANDULLI, Sandra Patricia Eder; et al. Roda Conversações sobre Hospitalidade. Caxias do Sul: Universidade de Caxias do Sul, 2015, 124 p.
CORRÊA, Mello de Aureanice. O Sagrado é divino, a religião é dos homens: territórios culturais e fronteiras simbólicas, a intolerância religiosa na contemporaneidade. In: Espaço e Cultura, UERJ, RJ, N. 31, 2012. p. 125-138.
CROZAT, Dominique. Jogos e ambiguidades da construção musical das identidades espaciais. In: DOZENA, A. (Org.). Geografia e música: diálogos. Natal: EDUFRN, 2016, p. 13-48.
DERRIDA, Jacques. L’Université sans condition. Paris: Éditions Galilée, 2001.
DÉSINOR, A. Carlo. La tragédie des libertés. vol.1. Port-au-Prince: Edition du Centenaire (le Nouvelliste), 1997. 283 p.
DEUXANT, Benoit. Migration et musiques (2): entretien avec Marco Martiniello. Disponivel em: https://www.pointculture.be/magazine/articles/focus/musique-et-migration-entretien-avec-marco-martiniello/. Acesso em : 23/10/2021.
DUFOURMANTELLE, Anne; DERRIDA, Jacques. Anne Dufourmantelle invite Jacques Derrida à répondre de l’Hospitalité. Paris: Calmann-Lévy, 1997.
FICK, E. Carolyn. La révolution de Saint-Domingue - de l’insurrection du 22 août 1791 à la formation de l’État haïtien. In: HURBON, Laënnec. L’insurrection des esclaves de Saint-Domingue - 22-23 août 1791. Paris: Éditions Karthala, 2000, p. 55-68.
FILLION, Emmanuelle; FASSIN, Didier; RECHTMAN, Richard. L’Empire du traumatisme. Enquête sur la condition de victime. In: Sciences Sociales et Santé. Volume 26, n°2, 2008, p. 113-117.
FROUILLOU, Leïla. Les écarts sociaux de recrutement des universités d’Île de France: un processus de ségrégation. In: ERES | Espaces et sociétés, n° 159. 2014, p. 111-126 .
_____. Ségrégations universitaires en Île-de-France. Inégalités d’accès et trajectoires étudiantes. Paris, La Documentation française, coll. Études & recherches de
l’Observatoire national de la vie étudiante. 2017. 207 p.
FROUILLOU, Leïla; MOULIN Léonard. Les trajectoires socialement et spatialement différenciées des étudiants franciliens. Formation emploi, n°145, 2019, p. 1-22.
GEDIEL, José Antônio Peres; CASAGRANDE, Melissa Martins. A migração haitiana recente para o Brasil: bases teóricas e instrumentos político-jurídicos. In: Monções: Revista de Relações Internacionais da UFGD, v.4. n. 8. 2015, p.97-110.
GIL FILHO, S. F. Paisagem religiosa. In: JUNQUEIRA, S. (Org.). O sagrado. Curitiba: IBPEX, 2009, p. 93 – 117.
GOVAIN, Renauld. Entwodiksyon Akademi Kreyòl Ayisyen an: Pou kreyòl la jwenn plas li nan peyi a. Disponível em: <http://tanbou.com/2013/EntwodiksyonAkademiKreyolAyisyen.htm>. Acesso em: 16/07/2019.
HAESBAERT, Rogério. Dilema de conceitos: espaço-território e contenção territorial. In: SAQUET, Marco Aurélio; SPOSITO, Eliseu Savério (Org.). Territórios e territorialidades: teorias, processos e conflitos. 1 ed. São Paulo: Expressão Popular, 2009, p. 95-120.
_____. Paul Vidal de la Blache (1845-1918) - «Estados e Nações»: Vidal no cruzamento entre as dimensões política e cultural da geografia. In: GEOgraphia, 11(22), p. 128-153.
HERREA, Javier; et al. L’évolution des conditions de vie en Haïti entre 2007 et 2012: la réplique sociale du séisme. Paris; Port-au-Prince: 2014, p. 28-29.
HURBON, Laënnec. O Deus da resistência negra: o vodu haitiano. São Paulo: Paulinas, 1987.
JOLIVET, Marie-José; LÉNA, Philippe. Des territoires aux identités. In: Autrepart (14), 2000, p. 5-16.
MÉTRAUX, Alfred. L’Afrique Vivante en Haïti. In: Présence Africaine, nº. 12, 1951, p. 1321. Disponível em: <www.jstor.org/stable/24346529>. Acesso em 25/02/2021.
MEUDEC, Marie. Penser la perpétuation des préjugés à propos d’Haïti et des haïtiennes: altérisation, racisme, imaginaire colonial et hégémonie blanche. In: Revue-rita, 2017, p. 1-23.
MFABOUM, Edmond Mbiafu. Haïti et l’Afrique: douleurs des destinées, spécularité des douleurs. In: Africultures , n° 58, 2004, p.150-160.
MISOCZKY, Ceci Maria; BÖHM, Steffen. Resistindo ao desenvolvimento neocolonial: a luta do povo de Andalgalá contra projetos megamineiros. In: Cad. EBAPE.BR, v. 11, nº 2, artigo 6, Rio de Janeiro, 2013, p. 311-339.
PROSPERE, Renel; GENTINI, Alfredo Martin. O Vodu no universo simbólico haitiano. In: Universitas Relações Internacionais, Brasília, v. 11, n. 1, 2013, p. 73-81.
QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. In: A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas. CLACSO, Consejo Latino-americano de Ciencias Sociales. Buenos Aires, 2005, p. 117-142. Disponível em: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/sursur/20100624103322/12_Quijano.pdf. Acesso em: 26/08/2020.
RABENORO, Aubert; METRAUX, Alfred. Le Vaudou haïtien. In: Archives de sciences sociales des religions, n°47/2, 1979, p. 279-281.
SANTOS, Caetano Maschio. Ayisyen Kit Lakai (Haitianos deixam suas casas): Um estudo etnomusicológico do musical de artistas imigrantes haitianos no estado do Rio Grande do Sul . Dissertação (Mestrado em Música) – Faculdade de Música, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2018, 173 p.
SOUZA, Marcelo Lopes de. “Território” da divergência (e da confusão): em torno das imprecisas fronteiras de um conceito fundamental. In: SAQUET, Marco Aurélio; SPOSITO, Eliseu Savério (Org.). Territórios e territorialidades: teorias, processos e conflitos. 1 ed. São Paulo: Expressão Popular, 2009, p. 57-73.
SOUZA, José Arilson Xavier de. Estudo geográfico-cultural da religião: a ressignificação do espaço por meio do santuário. In: Espaço e Cultura, n. 28, 2010, p.54-70.
TONDREAU, Jean Luc (Coord.). Tendances récentes et situation actuelle de l’éducation et de la formation des adultes (EdFoA) - Rapport national de la République d’Haïti. UNESCO, 2008.
TORRES, Alberto Marcos. Tambores, rádios e videoclipes: Sobre paisagens sonoras, territórios e multiterritorialidades. In: GeoTextos, vol. 7, n. 2. 2011, p. 69-83.
VALDUGA, Manoela Carrillo. O Território como lugar de hospitalidade. In: CENÁRIO, Brasília, V.5, n.8, 2017, p. 1-31.
WIEVIORKA, M. O Racismo, uma introdução. São Paulo: Perspectiva, 2007.
Outros:
Geografia para que(m)?. Episódio 22 (Patrimônio Afetivo). Spotify. Dec. 2020. 91 minutos. Disponível em: https://open.spotify.com/episode/6qahY0TXhZbgjrQUF3YQUi. Acesso em: 17/06/2021.

