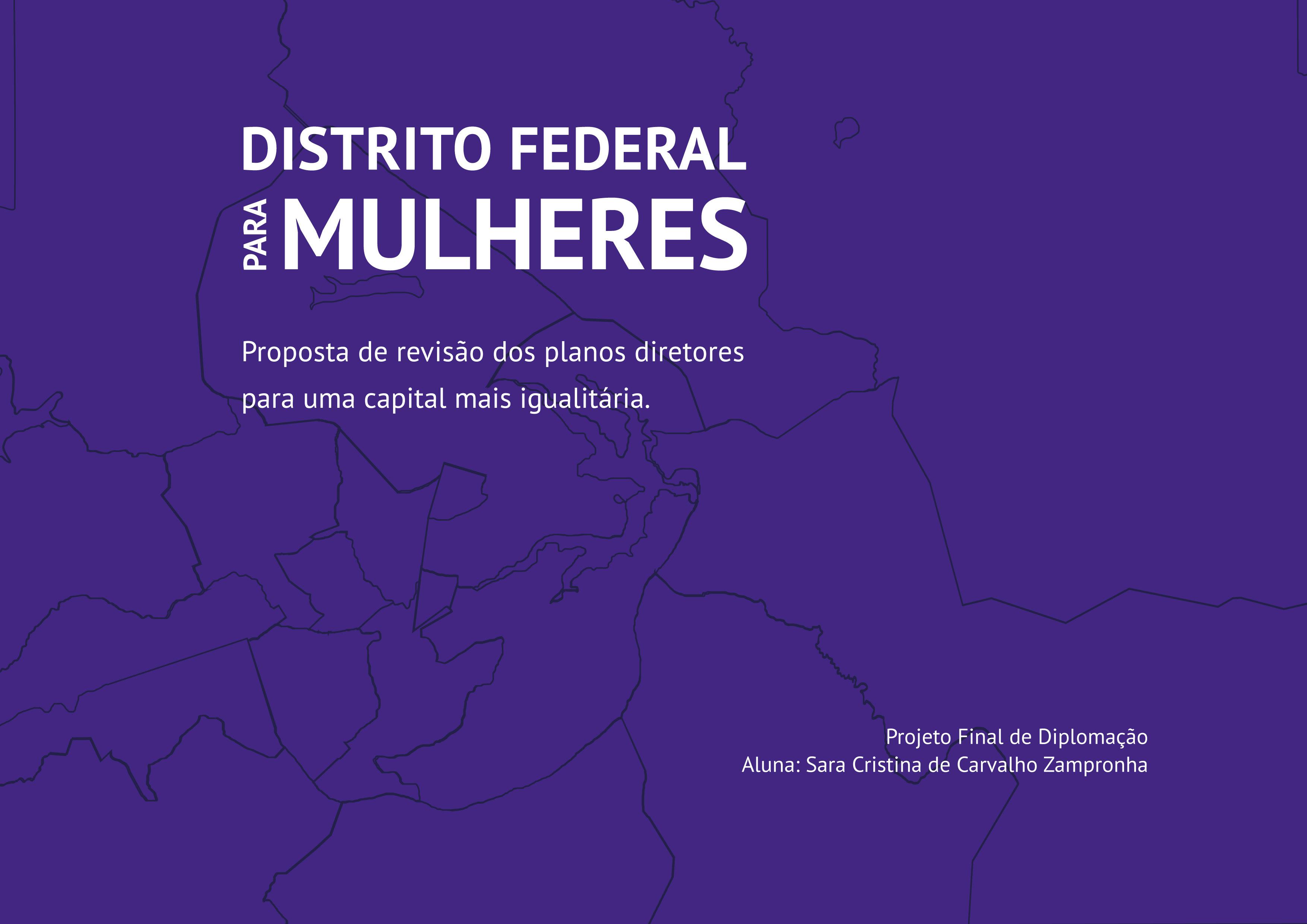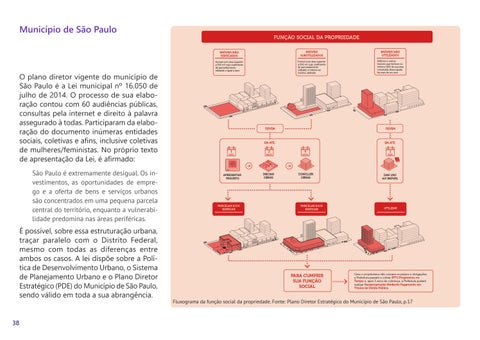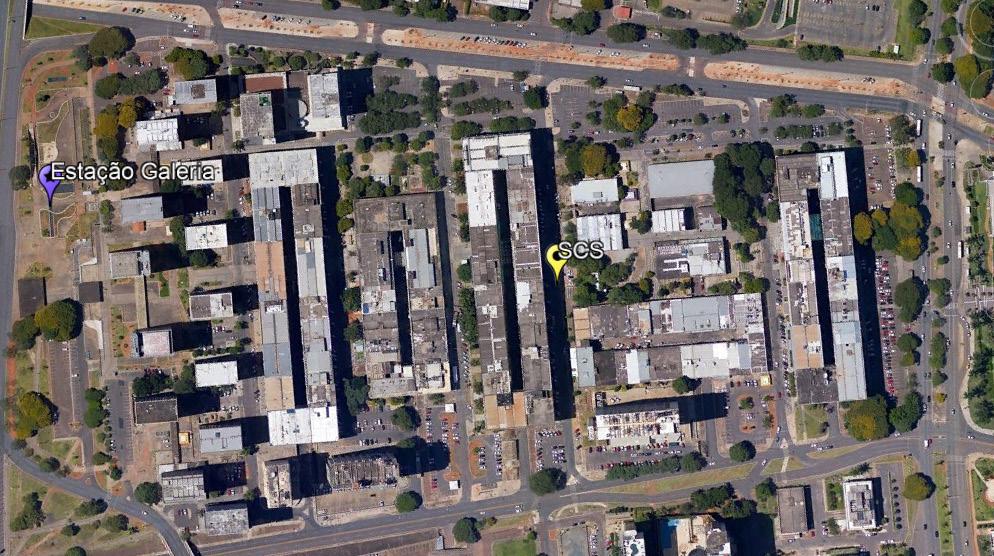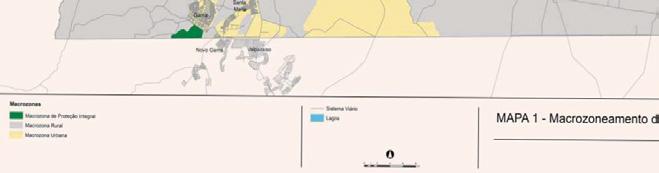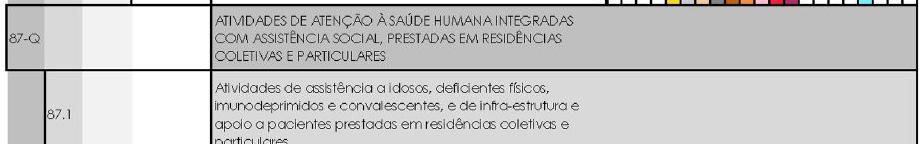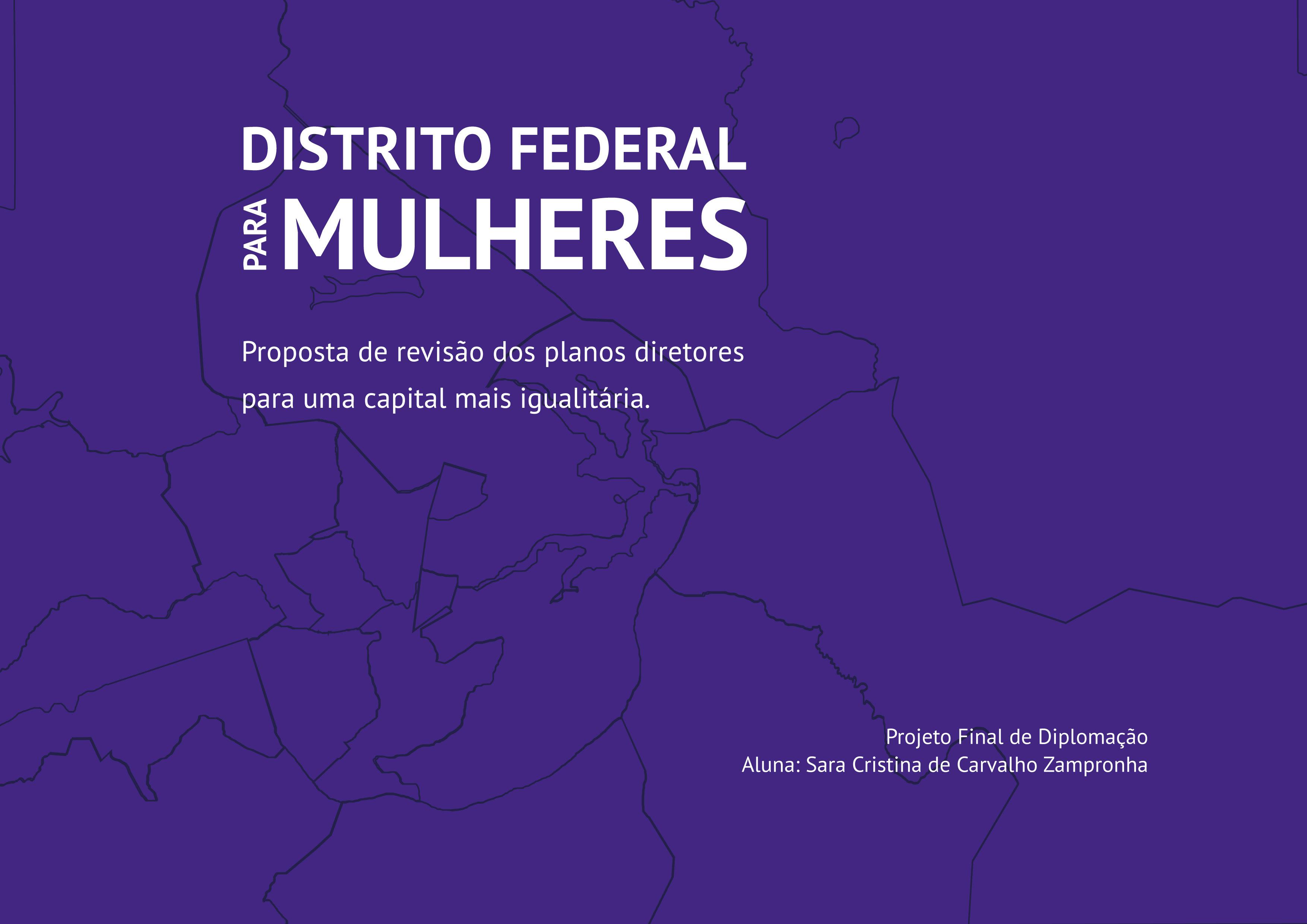
Universidade de Brasília
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
Departamento de Projeto e Expressão
Projeto Final de Graduação
DISTRITO FEDERAL PARA MULHERES
Proposta de revisão dos planos diretores para uma capital mais igualitária
Aluna: Sara Cristina de Carvalho Zampronha
Orientadora: Profª. Drª. Maribel Del Carmen Aliaga Fuentes
Banca examinadora: Profª. Drª. Carolina Pescatori
Arqª. Daniela Pareja Garcia Sarmento
Arqª. Ana Laterza
01 de novembro de 2021
Agradecimentos
Agradeço à minha mãe, Valéria Zampronha, por todo o apoio, sem o qual essa graduação não seria possível. Pela coragem e incentivo para que eu ainda adolescente me mudasse para Brasília, à época cursando Relações Internacionais, na universidade dos meus sonhos, a UnB. Obrigada por ter me matriculado em aula de artes plásticas na infância e incentivado que eu me expressasse artisticamente, e obrigada por todas as revistas de arquitetura que você comprava nas bancas de jornais e que eu folheava ao som do meu CD das Chiquititas. Todas essas coisas foram imprescindíveis para que hoje eu estivesse aqui. Também sou eternamente grata pela sua amizade, e por sempre ter se desdobrado tanto para que eu tivesse acesso a melhor educação possível, e ter me ensinado todas as minhas primeiras noções sobre liberdade.
Agradeço à minha querida orientadora profª Drª Maribel Aliaga por ter me acolhido e incentivado tanto nessa aventura. Poucos são os professores que abraçariam um projeto tão diferente da maioria, e eu me sinto abençoada pela sorte que foi ser orientada
por você. Cheguei a quase todas as nossas orientações insegura, e todas as vezes saí esclarecida e com a confiança renovada.
Agradeço à professora Drª Carolina Pescatori por me acompanhar desde o Ensaio Teórico ainda em 2020, e tão carinhosamente ter contribuído com desenvolver deste projeto.
Agradeço à arquiteta Daniela Sarmento pela inspiração que norteou este projeto, e pela honra de compor minha banca de avaliação.
Agradeço também à arquiteta Ana Laterza por todos os acréscimos em nossas orientações conjuntas, e pela disposição de corrigir e avaliar este trabalho.
Agradeço a todas as professoras e professores que tive ao longo da vida e que me trouxeram até aqui. Em especial, agradeço ao profº Drº Pedro Paulo Palazzo pelas mais diversas orientações e ensinamentos nesses tantos anos de convívio; e ao Profº Drº Marcelo Rosa, por ter me orientado em meu PIBIC sobre a questão das mulheres nos movimentos de reforma agrária, pela Faculdade de Sociologia da UnB, e dado início ainda em 2010 às minhas leituras, estudos e ativismo sobre feminismo.
Agradeço ao apoio de toda a minha família, em especial avó, madrinha e primas. Agradeço às amigas e amigos, família que eu
escolhi, por tornarem a existência mais leve. À Glícia Maria e Renata Lopes por todo o apoio psicológico nos momentos de maior desafio e dificuldade. Ao Daniel Freire pelo nosso terapêutico tarot de todo início de mês e as relaxantes horas de séries e videogames. Ao Mateus Cecílio por todas os “butecos virtuais” nesse período de pandemia, e por sempre contribuir com questões sobre diagramação e design quando eu pedia ajuda. À Alyssa por todas as várias ajudas e choros compartilhados. Ao Jaime César por ser esse irmão querido que sempre me socorre quando preciso. E ao Gil Olerante, por todas as vezes que me manteve alimentada durante a finalização desse projeto. Se há uma verdade muito dita pelos corredores da FAU, é que “é impossível se formar sem ter amigos”.
Agradeço à Iansã e Oxóssi pela minha natureza combativa. Ao meu Exú, por todas as vezes que intercedeu por mim. Agradeço Lilith pelas lições de liberdade e insubordinação. Agradeço à Kali por toda a proteção. Agradeço à Hecate por todas as portas abertas, e por ter me indicado a direção que este trabalho deveria percorrer. Por todas as Deusas, Deuses e guias que caminham comigo, sou grata por ter chegado ao final dessa importante etapa da vida.
Dedicatória
Dedico este trabalho às mulheres que já tiveram qualquer liberdade cerceada apenas por serem mulheres. À todas que em razão de terem nascido no sexo feminino tiveram oportunidades negadas, sejam de carreira, lazer ou acesso a direitos básicos.

Dedico a todas as mulheres que não se limitam pelos medos, e corajosamente seguem seus sonhos, de liberdade, carreira, viagens...
Dedico também àquelas que, paralisadas pelas circunstâncias, ainda não conseguiram se libertar.
Dedico também àquelas mulheres que nasceram e sempre viveram em zonas urbanas, e àquelas que se mudaram do campo para a cidade em busca de oportunidades.
Das meninas às idosas, à todas que amam as ruas, as praças, os parques e todos os espaços de convivência que as cidades proporcionam.
Em suma, dedico a todas nós, mulheres.
Este trabalho é uma oferenda à Deusa Hecate, que é Propolos e Phylake, guia e guarda dos caminhos, enquanto também é Enodia, o próprio caminho. Seu culto teve início na Ásia Menor, onde atualmente é a Turquia. Foi levado à Grécia e popularizado no século VII a.C. Por centenas de anos viajantes fizeram oferendas a Ela em encruzilhadas triplas, afim de ganharem proteção em seus caminhos. Ofereço, no entanto, meu projeto, que tem como uma das diretrizes tornar os caminhos das mulheres mais seguros. Que Ela abra as portas que o realizarão.






Trajetória
O primeiro semestre letivo de 2020 foi o que eu escrevi meu Ensaio Teórico. Os trabalhos de conclusão de curso possuem sistema de matrícula especial, afinal, é preciso preencher um formulário sobre o tema e ter o aceite de uma orientadora. A matrícula deveria ser feita na primeira semana de aula, entre os dias 09 e 13 de março. Na quarta-feira, dia 11, eu ainda não havia decidido um tema, muito menos tinha uma orientadora.
Fiz uma fogueira no quintal (estava morando na Zona Rural do Distrito Federal), meditei e orei em frente ao fogo e fui dormir. Sonhei que estava em uma colação de grau da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília, e pessoas estavam recebendo seus canudos com diploma. Na minha vez, minha prima Thaís veio até mim e me entregou um envelope. Nele estava escrito que eu não me formaria ali, e sim no semestre seguinte ao esperado. Que o tema do meu trabalho seria traçado urbano e segurança das mulheres, e daria tudo certo.
Pela manhã ao acordar, a primeira coisa que fiz foi mandar mensagem à querida professora Maribel, dizendo o tema que eu gostaria de trabalhar e se ela poderia me orientar. Naquela quinta às 10am eu já estava matriculada. Comprei um caderno para começar um diário de sonhos, que foi inaugurado com a história do sonho da colação. Na sexta-feira, dia 13, já aconteceu a primeira orientação.
Em meio às conversas com o grupo, decidi usar o Metrô-DF como direcionamento para o trabalho. A intenção era elaborar um questionário e abordar mulheres das mais diversas no metrô e estações, e até mesmo acompanhar algumas em parte de seus caminhos. Porém na semana seguinte foi decretada a quarentena em função da pandemia do novo coronavírus. O semestre ficou suspenso e retornou no formato EAD em agosto. Inevitavelmente, minha formatura foi atrasada um semestre.
Toda a metodologia de trabalho precisou ser adaptada à nova realidade. Quando tive certeza que teria que concluir a graduação à distância, devido a diversas dificuldades pessoais geradas por esse momento de tantos medos, voltei à Goiânia para estar próxima à minha mãe. A impossibilidade da pesquisa de campo direcionou o trabalho
a mais pesquisas teóricas e de análise de dados sociais. Foi elaborado um Questionário via Formulário do Google, composto por perguntas objetivas e também diversos depoimentos. O questionário me forneceu uma grande riqueza de dados que ainda podem ser muito trabalhados. Os resultados foram alarmantes e senti necessidade em procurar possíveis soluções para os problemas diagnosticados.
Este projeto de diplomação é a continuidade dessa jornada que se iniciou em março de 2020 e é parte indissolúvel desta diplomação. Estando limitada pelo isolamento social, usei as ferramentas que me estavam disponíveis, e ao invés de um projeto construtivo, projetei uma cartilha de revisão das legislações urbanas.
A possibilidade de, por exemplo, protocolar meu produto final diante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDUH) do Distrito Federal, foi uma constante fonte de motivação. A principal intenção é colaborar com o debate da crítica feminista ao planejamento urbano. Desejo, de coração, que seja boa a leitura deste trabalho. Que te traga novas perspectivas ou te acresça novas informações.
07 Apresentação
08 Lista de Siglas
09 Justificativa e Relevância
13 Mulheres Nos Trilhos
15 Plano Piloto
20 Águas Claras
21 Taguatinga
22 Ceilândia
23 Samambaia
24 Panorama
26 PDOT
32 PPCUB 35 LUOS
36 Legislações de Referência
38 Município de São Paulo/SP
41 Município de Santo André/SP
43 Município de Blumenau - SC
46 Introdução à Carta
48 Carta ao Distrito Federal pelo
Direito das Mulheres à Cidade
50 Sumário
51 Lista de Siglas
52 Apresentação
53 Tutorial de Leitura
55 PDOT
65 LUOS
72 PDTU
78 PLANDHIS
81 Minuta do PPCUB
88 Bibliografia
Sumário
Apresentação
Este projeto de diplomação buscou analisar e propor revisões pontuais em algumas das principais as legislações urbanas do Distrito Federal: Plano Diretor de Ordenamento Territorial; Lei de Uso e Ocupação do Solo; Plano Distrital de Habitação de Interesse Social; Plano Diretor de Transportes Urbanos e Mobilidade; e Minuta do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília.
O trabalho é continuidade do ensaio teórico “Mulheres que Andam nos Trilhos: Elas estão seguras? Traçado Urbano e Segurança das Mulheres Usuárias do Metrô-DF”, de 2020, onde foi elaborado um questionário através do qual alcançou-se 90 mulheres, o que proporcionou o diagnóstico de diversos problemas que interferem no direito à cidade especificamente para as mulheres.
O Distrito Federal possui traçados urbanos muito distintos entre as Regiões Administrativas (RAs), e as questões apresentadas envolviam uma grande amplitude territorial, o que se apresentou como desafio
na forma de desenvolver um projeto de diplomação nos moldes convencionais de projeto urbanístico. Através de pesquisas em busca por referências, chegou-se à dissertação de mestrado “A Participação da Mulher na Construção da Cidade Contemporânea: contribuições para um novo modelo de planejamento urbano em Blumenau/SC” de Daniela P. G. Sarmento. Inspirada por este trabalho, o desenvolvimento desta diplomação se voltou a intervenções em plano diretor, uma vez que a seleção de uma reduzida área de intervenção não abarcaria a maioria das questões levantadas.
Considerando a necessidade de ouvir as mulheres para ser possível elaborar políticas centradas em suas demandas, as alterações propostas partem dos problemas apontados pelos depoimentos que as mulheres deram, em referências bibliográficas, sobretudo a dissertação supracitada e as legislações que também a inspiraram: Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo e Plano Diretor do Município de Santo André. Como se tratam de políticas públicas, diversos relatórios socioeconômicos foram utilizados para as análises, desde dados gerais do IBGE, relatórios da Companhia de Planejamento do Distrito Federal (CODEPLAN), dados do Ministério Público
do Distrito Federal e Territórios e até mesmo de institutos privados de pesquisa como Instituto Patrícia Galvão e Locomotiva.
Apesar de ter surgido a partir de demandas relacionadas principalmente a questões de segurança nos espaços públicos, com o decorrer do trabalho tornaram-se nítidas diversas questões referentes ao planejamento urbano que podem tanto amenizar as desigualdades sociais, como podem acentuar tais desigualdades, sobretudo aquelas que acometem pessoas do sexo feminino nas classes menos favorecidas. Assim, os assuntos abordados extrapolam questões de segurança, abordando também questões como mobilidade, equipamentos públicos, habitação, entre outros. O objetivo deste trabalho é a colaboração para a construção de um Distrito Federal mais igualitário.
7
Lista de Siglas
CAU/Br Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
CGU Controladoria Geral da União
CLS Comércio Local Sul
CODEPLAN Companhia de Planejamento do Distrito Federal
CUB Conjunto Urbanístico de Brasília
DF Distrito Federal
DIEESE Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos
FUNDHIS Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social
IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
ICC Instituto Central de Ciências
IPG Instituto Patrícia Galvão
LUOS Lei de Uso e Ocupação do Solo
MPDFT Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
PDE-SP Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo
PDL Plano Diretor Local
PDOT Plano Diretor de Ordenamento Territorial
PDTU Plano Diretor de Transportes Urbanos e Mobilidade
PLANDHIS Plano Distrital de Habitação de Interesse Social
PPCUB Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília
RA Região Administrativa
SCS Setor Comercial Sul
SCIA Setor Complementar de Indústria e Abastecimento
SEDESTMIDH Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos.
SQS Superquadra Sul
UnB Universidade de Brasília
UOS Unidades de Ocupação do Solo
8
Justificativa e Relevância
A prática profissional da arquiteta e urbanista é regulamentada pela Lei Federal nº12.378 de 31 de dezembro de 2010, e entre suas tantas atribuições, consta:
(...) do Planejamento Urbano e Regional, planejamento físico-territorial, planos de intervenção no espaço urbano, metropolitano e regional fundamentados nos sistemas de infraestrutura, saneamento básico e ambiental, sistema viário, sinalização, tráfego e trânsito urbano e rural, acessibilidade, gestão territorial e ambiental, (...) planejamento urbano, plano diretor, traçado de cidades, desenho urbano, sistema viário, tráfego e trânsito urbano e rural, inventário urbano e regional, assentamentos humanos e requalificação em áreas urbanas e rurais;
(Lei nº 12.378/2010, Art. 2º, Parágrafo único, inciso V)
Destas, algumas atuações são determinadas como privativas a arquiteta e urbanista pelo decreto nº51 do CAU/Br, de 12 de junho de 2013, dentre elas o projeto urbanístico e também a coordenação de equipe
multidisciplinar de planejamento concernente a plano ou traçado de cidade, plano diretor, plano de requalificação urbana, plano setorial urbano, plano de intervenção local, plano de habitação de interesse social, elaboração de estudo de impacto de vizinhança, entre outros. Ou seja, as cidades são, de diversas formas, nossa responsabilidade.
As cidades, por sua vez, estão também sujeitas a diversos fundamentos legais, que vão desde o artigo 182 da Constituição Federal, o qual é detalhado pelo Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001), além da Lei Federal nº 9.785/99 sobre parcelamento do solo urbano, até a legislações regionais e locais. Por determinação constitucional, todas as cidades que possuem mais de 20 mil habitantes devem, obrigatoriamente, aprovar um plano diretor, que é um instrumento básico da política de desenvolvimento e crescimento urbano.
Pelo texto do artigo 182 da Constituição Federal as políticas urbanas devem ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantindo o bem-estar dos habitantes. De acordo com os dados da pesquisa distrital por amostra de domicílios realizada em 2018 pela CODEPLAN, as mulheres são 52% da população do Distrito Federal. Para que a cidade cumpra as
determinações ditadas pela própria Constituição no artigo acima citado, e também no artigo 5º que, entre outras tantas garantias fundamentais da pessoa humana, afirma que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, e também o artigo 6º que trata dos direitos sociais, é necessário garantir às mulheres direito ao pleno exercício da vida urbana, o que inclui seu direito à segurança nos espaços públicos.
No caso específico do Distrito Federal, por se tratar não de um município e sim de uma unidade federativa cujas dimensões territoriais são significativamente grandes, e possuir organização política própria, a legislação urbana é um pouco mais complexa do que um único plano diretor. A Lei Orgânica do DF que prevê o Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT), válido para todo o território, o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCUB), que atuará sobre a área tombada, a Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS) que diz respeito às demais Regiões Administrativas. Os Planos Diretores Locais (PDLs) e normas de gabarito basearam a elaboração da LUOS.
O Plano Diretor de Transportes Urbanos (PDTU) também é determinado pelo PDOT.
9
I - DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
Art. 1º A República Federativa do Brasil (...)constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos:
II – a cidadania;
III – a dignidade da pessoa humana;
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I – construir uma sociedade livre, justa e solidária;
III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
CONSTITUIÇÃO
da República Federativa do Brasil
II- DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS
Cap. I - Dos Direitos e Deveres individuais e coletivos.
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se (...) a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
I- Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. (...)
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados...
VII- Da Ordem Econômica e Financeira
Cap. II - Da Política Urbana
Art. 182 A política de desenvolvimento urbano (...) tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.
§1º O plano diretor, (...) obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expressão urbana
§2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.
10
Constituição Federal Art . 182
É detalhada pelo
Determina como obrigatório
Plano Diretor
Arquiteta e Urbanista
Respaldada pela
Lei nº 12.378/2010
Elabora/propõe/coordena
População
Estatuto da Cidade
(Lei Federal nº10.257/2001)
Art. 1º - (...) Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta Lei, denominada Estatuto da Cidade, estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental.
Art. 2º - A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:
I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações;
II – gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano;
11
a par
Apresenta demandas Estatuto da Cidade Fornece diretrizes Exige
ticipação
Lei Orgânica do DF
Determina elaboração e execução
Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal (PDOT)
Determina a elaboração
Plano Diretor de Transportes Urbanos e Mobilidade
Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCUB)
Legisla sobre a área tombada.
Planos Diretores Locais (PDLs)
Juntamente às normas de gabarito, basearam a elaboração da
O Plano Distrital de Habitação de Interesse Social é um documento que foi elaborado em consonância com a Lei Federal nº 11.124, de junho de 2005, para compatibilizar as diversas iniciativas de combate ao deficit habitacional.
No diagnóstico obtido no Ensaio (2020), onde 90 mulheres foram entrevistadas, dentre os resultados obtidos ficou demonstrada a existência de empecilhos entre as mulheres e sua livre circulação, seu pleno direito à cidade.
Limitar o conceito de direito a cidade ao acesso à infraestrutura é esvaziá-lo de sentido: é necessário um debate mais amplo que englobe também a tensão vivida pela apropriação e dominação dos espaços (SARMENTO, 2017). Pelo Estatuto da Cidade (Lei Federal nº10.257/2001) artigo 2º inciso II é determinada que para a elaboração das políticas urbanas é preciso:
um exemplo de alterações referentes à metodologia participativa do planejamento do PLANDHIS com uma abordagem crítica de gênero.
Os procedimentos metodológicos iniciais feitos ainda no Ensaio Teórico Mulheres
Nos Trilhos: traçado urbano e segurança das usuárias do Metrô-DF consistiram em levantamentos bibliográficos históricos e filos[oficos sobre a relação das mulheres com o crescimento das cidades, as relações de público/privado e não-doméstico/ doméstico, em seguida, análise de fluxo das trabalhadoras do Distrito Federal e os números de violência contra as mulheres, e por fim, análises quantitativas e qualitativas/descritivas dos resultados obtidos via questionário, onde 90 mulheres usuárias do Metrô-DF foram entrevistadas.
Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS)
Legisla sobre demais RAs.
“gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano.”
Com isso em mente, o produto final deste projeto de diplomação envolverá também
Nesta nova etapa, serão apresentadas as principais legislações urbanas e documentos do Distrito Federal, sobre os quais o trabalho foi desenvolvido. A vivência das mulheres anteriormente entrevistadas também norteará o diagnóstico das legislações. Foi feita pesquisa documental sobre algumas políticas urbanas já existentes que levem em conta especificamente as questões das mulheres, e que serão referências para este trabalho.
12
Mulheres Nos Trilhos
13
Mulheres Nos Trilhos
Nós mulheres, ao nos deslocarmos pelas cidades, enfrentamos barreiras simbólicas, físicas, sociais, e econômicas que são invisíveis aos homens (KERN, 2019). Para realizar avaliações do uso e ocupação das cidades é preciso ouvir as demandas específicas dessa parcela da população. Se mulheres são 52% da população do Distrito Federal, isso significa mais de 1,5 milhão de pessoas do sexo feminino no Distrito Federal, e a maior porcentagem delas possui entre 35 e 39 anos (CODEPLAN, 2018).





Entre os resultados obtidos no Ensaio Teórico Mulheres Nos Trilhos, temos depoimentos de mulheres especificando os locais e situações em seus caminhos que mais sentem insegurança, ou que sofreram violência. O trabalho abordou os trajetos que estas mulheres faziam de suas casas/trabalho/estudo/lazer até as estações de Metrô e também o interior do metrô e das estações.
Como resultado são apresentadas análises de pequenos trechos urbanos do Plano Piloto, Águas Claras, Taguatinga e




Ceilândia, a partir do depoimento das próprias cidadãs. Cabe reforçar que as queixas mais recorrentes dizem respeito a espaços ermos e também a lugares mal iluminados. A rodoviária do Plano Piloto se apresenta como um lugar crítico, onde nos horários e espaços mais vazios, sobretudo à noite, as usuárias sentem muito medo; e em horários mais lotados e movimentados ocorrem situações de assédio, agressão, furto entre
outras violências. Essas vivências reais de mulheres moradoras do Distrito Federal devem compor os parâmetros para avaliação das legislações urbanas.
As entrevistas ocorreram via formulário do Google, uma vez que a circunstância da pandemia do novo coronavírus impossibilitou o trabalho de campo presencial. As intenções iniciais consistiam em entrevistar mulheres
14
São Sebastião
Paranoá
Santa Maria
Gam
guatinga Guará
RAs avaliadas Demais RAs
Brazlândia Brasília
Áreas com concentração humana
pessoalmente no metrô, e acompanhar algumas por seus trajetos, mas o método de trabalho foi limitado. As mulheres alcançadas possuem entre 18 e 54 anos, e 62,2% se declaram brancas e 33,4% se declararam pardas ou negras. Apenas uma afirmou possuir deficiência, sendo esta surdez parcial, e nenhuma se declarou transgênero.
Mesmo com as entrevistadas possuindo plena capacidade de mobilidade, sendo jovens, e com a maioria desfrutando os privilégios sociais advindos da branquitude, os dados obtidos foram graves, com 91,1% afirmando se sentirem inseguras em seus trajetos cotidianos, e 86,4% afirmando que fazem caminhos mais longos ou desvios.
Quando mulheres afirmam que fazem estes desvios, significa que assim como existem trajetos que são preteridos, existem os trajetos que são escolhidos. Cabe às urbanistas entender estas características e privilegiar nos projetos urbanos, ou de revisão, aquelas que trazem maior sensação de segurança.
Seguem nas páginas a seguir os depoimentos referentes às Regiões Administrativas selecionadas.
Nos trajetos que você faz da estação até a sua casa, trabalho, lazer ou afins, você se sente insegura? (Em algum trecho específico, não necessariamente no trajeto todo.)
Você costuma praticar medidas de autopreservação como, por exemplo, andar com as chaves entre os dedos, não usar fones de ouvido para poder ouvir alguém se aproximando, andar com spray de pimenta na bolsa ou afins?
Fonte: Mulheres que andam nos trilhos, 2020
15
-
-
91,1% 8,9%
Sim
Não
86,7% 13,3% -
-
Você faz caminhos mais longos ou desvios para evitar passar em lugares nos quais sente medo?
Sim
Não
86,7% 13,3% -
-
Sim
Não
Plano Piloto
“(...) eu descia na estação 102 me sentia insegura ao atravessar a SQS 202, pela calçada que acompanha o eixinho de baixo, pois até chegar na área comercial (CLS 201/202) é uma trajetória envolta somente por residências, que em alguns horários fica muito vazia e onde já ocorreram diversos assaltos.”



“O terminal asa sul em certos horários é mais vazio e eu sinto insegurança. E também o trajeto que faço da estação 102 até a 902, boa parte desse trajeto é pouco movimentado e fico com medo de algo acontecer, costumo andar bem rápido.”

16
Calçada rente ao “Eixinho”. Fonte: Google Street View, acesso no dia 13/03/2021. Data da imagem 06/2019.
Fonte: Google Earth Pro, acesso no dia 13/03/2021. Data da imagem de satélite 18/01/2018.
Caminho de pedestre na SQS 202. Fonte: Google Street View, acesso no dia 13/03/2021. Data da imagem 06/2019.
Caminho de pedestre na SQS 102. Fonte: Google Street View, acesso no dia 13/03/2021. Data da imagem 06/2019.
SGAS 902
Estação 102
Estação 102
CLS 201/202
“Dependendo do horário que saio do estágio e devo atravessar o SCS presto mais atenção por ser um lugar com pouco iluminação e por depois das 18h se tornar praticamente deserto.”
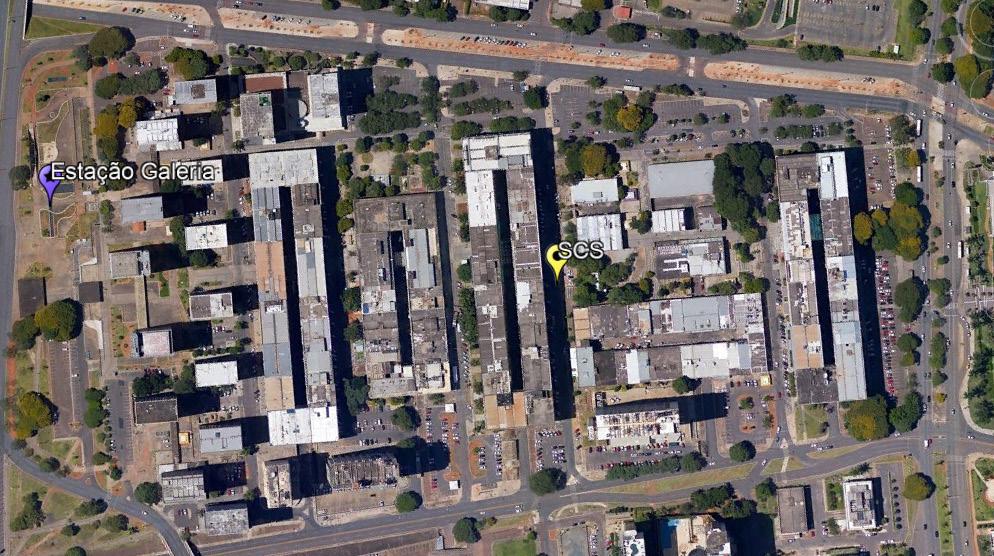


“(...) ando com a chave entre os dedos, e por hábito, sempre mudo o percurso. Faço isso desde o momento que saio do trabalho no SCS, e pego a estação galeria, (...)”
“Acho a estação galeria bem perigosa o caminho sentido CGU.”

17
Estacionamento SCS. Fonte: https://mapio.net/pic/p-92642516/, data de acesso: 09/05/2021
Praça no SCS. Fonte: https://www.agenciabrasilia.df.gov.br, data de acesso: 09/05/2021
Caminho de pedestre no SCS. Fonte: https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/, data de acesso: 09/05/2021
Fonte: Google Earth Pro, acesso no dia 13/03/2021. Data da imagem de satélite 18/01/2018.
“Ando sempre muito atenta, principalmente na Rodoviária do Plano Piloto, onde só me sinto segura dentro da ala de embarque do BRT (há seguranças nas proximidades), visto que fora de lá fui abordada várias vezes por homens, dentre as quais já tive o braço agarrado e puxado com força e, em outra ocasião, levei um tapa quando não tive moedas para dar a um homem em situação de rua. Sempre que posso evito o local.”

“Rodoviária do plano piloto e a estação central são medonhas em horários mais tardes(...)”
“Na estação da rodoviária só ando correndo, e se estiver de fone retiro ou desligo a música.”
“Fui assediada verbalmente na trajetória para o metrô, quando estava saindo sozinha da rodoviária, à noite (em torno de 19h, 20h).”

Autoria: Zukyron Fonte: https://www. instagram.com/p/CNIDylAM9TQ/

18
Embarque normal de ônibus. Fonte: https://i.pinimg.com/736x/ ce/12/08/ce12087441 ee5c2b184e9fcc7917d0ca--ems.jpg. Acesso em 28/04/2021
BRTs e área de embarque. Fonte: https://www.portalatual.com. br/wp-content/uploads/2018/02/bus.jpg, Acesso: 27/04/2021.
“Evito lugares mal iluminados no geral, terrenos baldios principalmente com mato alto (vários próximos a UnB), passagens subterrâneas (exceto as das estações que são um pouco mais seguras devido à presença de iluminação).”


“Ao sair da UnB, precisava pegar um ônibus até a rodoviária (...), eu me sentia insegura se precisasse subir até a L2 Norte.”
“A Asa Sul, na verdade o Plano Piloto, em geral, não tem as quadras muito movimentadas e sempre ando alerta ao andar em locais desertos.”
“Evitava áreas verdes, campos, as vezes percorria os caminhos mais longos, que me davam mais ‘segurança’.”


19
Passarela subterânea de dia. Autor: Marcello Casal Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br/foto/2020-04/brasilia-60-anos-passarelas-subterraneas-de-pedestres-1587421825
Passarela Subterânea a noite. Fonte: https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/, data de acesso: 09/05/2021
Caminho no Campus Darcy Ribeiro (UnB)Fonte: https://www.noticias.unb.br/, data de acesso: 09/04/2021
Caminho próximo a UnB. Fonte: Google Street View, acesso no dia 09/04/2021. Data da imagem 03/2020.
Águas Claras
“(Águas Claras, Quadra 202 para Estação Arniqueiras) No trajeto da minha casa até a estação de metrô havia uma passagem/atalho que cortava o caminho, (...) toda vez que já estava escurecendo ou a passagem estava meio vazia sempre dava a volta na quadra ao invés de atravessar por lá. Chegando na avenida, sempre optei por andar do lado da Av., porque do lado da rua adjacente aos trilhos do metro frequentemente aparecia alguém sendo inconveniente.”

“Moro próximo à estação Arniqueiras, quando volto para casa à noite, ao invés de utilizar a rota mais curta (que seria andar ao lado dos trilhos do metrô, pra onde o comércio está geralmente “de costas”), prefiro ir até a Av. Castanheiras) e descer até a rua de minha residência.”



“costumo andar com um celular falso dentro bolsa, e o celular verdadeiro dentro do top (...) em Águas Claras. moro na rua 33 sul, e há sempre roubo, furto de carros, e etc.”
Fonte: Google Earth Pro, acesso no dia 11/04/2021. Data da imagem de satélite 18/01/2018.

20
. s
Fonte: Google Street View, acesso no dia 09/04/2021. Data das imagens 02/2020.
Av. Castanheiras
Estação Arniqueiras
Taguatinga
“Em Taguatinga Centro, Praça do Relógio, fico sempre mais atenta.”

“Evito o centro de Taguatinga, próximo ao Banco do Brasil à noite.”

“Evito lugares escuros, evito passar muito perto de homens quando não tem outras pessoas perto.”
“Quando chego a noite no Centro Metropolitano, tento pegar um uber imediatamente por ser bem escuro e isolado.”
Taguatinga Est. Centro Metropolitano


21
Fonte: https://www.correiobraziliense.com.br/ Acesso no dia 10/04/2021.
Fonte: Google Earth Pro, acesso no dia 11/04/2021. Data da imagem de satélite 18/01/2018.
Fonte: Google Street View, acesso no dia 10/04/2021. Data da imagem 03/2020.
Fonte: Google Earth Pro, acesso no dia 11/04/2021. Data da imagem de satélite 18/01/2018.
Praça do Relógio
Ceilândia
Ceilândia
“...Me sinto insegura no horário noturno ou qualquer horário em que eu esteja sozinha andando na rua (...) Tento evitar caminhos urbanos que funcionam como corredores estreitos (muro ou elementos que funcionam como barreiras dos dois lados do caminho) principalmente quando está vazio ou quando tem homens no caminho, locais que não tenham muitos olhares das pessoas, como becos, paredes sem janelas e paradas de ônibus(...) evito: esquina da minha casa em Ceilândia, 13 do Setor-O; caminho da casa dos meus avós na Ceilândia, quando vou de metrô - Estação Ceilândia norte.”



“Deixo de ir a pé para a estação Ceilândia norte por medo. Na volta faço o percurso, pois sempre há outras pessoas indo na mesma direção. Tenho muito medo de ser abordada no trecho entre a saída da estação e a via oeste. Ao redor da biblioteca. Em ambos os lados me sinto insegura, pois há um trecho sem habitação ou comércio. Quando a creche está funcionando me sinto um pouco menos insegura.”
https://agenciabrasilia.df.gov.br/2019/03/12/-ceilandia/,


22
Fonte: Google Earth Pro, acesso no dia 11/04/2021. Data da imagem de satélite 18/01/2018.
Fonte: Google Street View, acesso no dia 10/04/2021. Data das imagens 06/2019.
Fonte:
acesso no dia 11/04/2021
Fonte: Google Street View, acesso no dia 10/04/2021. Data das imagens 06/2019.
Est. Ceilândia Norte
Est. Ceilândia Norte
Estação Ceilândia
Setor O, QNO 13
Samambaia

“Na Samambaia, prefiro passar por dentro das quadras, pois o caminho mais rápido tem terrenos vazios e construções inacabadas que estão mal iluminadas.”



“Evito passar por lugares pouco iluminados ou que as copas das árvores estejam muito grandes.”
“Evito uma praça onde sempre tem homens se exercitando e evito passar na frente de um bar a caminho de casa, atravesso a rua antes e atravesso novamente depois.”


23
Fonte: Google Earth Pro, acesso no dia 11/04/2021. Data da imagem de satélite 18/01/2018.
Fonte: Google Street View, acesso no dia 11/04/2021. Data da imagem 03/2020.
Fonte: Google Street View, acesso no dia 11/04/2021. Data da imagem 10/2018.
Fonte: Google Street View, acesso no dia 11/04/2021. Data da imagem 06/2019.
Estação Samambaia
Estação Samambaia
Panorama
24
Panorama
O Distrito Federal é composto por território goiano cedido à federação em 1956, primeiro ano do governo de Juscelino Kubitschek. A cidade de Brasília foi inaugurada em 21 de abril de 1960, data em que passou a ser a nova Capital Federal brasileira. A atual Constituição da República Federativa do Brasil foi promulgada em outubro de 1988, e a Lei Orgânica do Distrito Federal apenas em junho de 1993,
sendo sua versão mais recente, com as últimas alterações determinadas por emendas, de dezembro de 2020.
O Estatuto da Cidade veio apenas em 2001, e desde então todos os planos diretores do país precisaram ser adequados às diretrizes por ele ditadas. Além disso, o Estatuto da Cidade determina no Art. 40, §3º que “A lei que instituir o plano diretor deverá ser revista, pelo menos, a cada dez anos”, garantindo frequentes melhorias. Afinal, as cidades estão em constantes transformações, consequentemente as atualizações dos planos diretores
necessárias. O PDOT vigente está passando atualmente por processo de revisão. O PPCUB segue em processo de elaboração, e as análises referentes ao mesmo foram feitas sobre a Minuta de 2017.
A princípio seriam abordados apenas o PDOT, LUOS e minuta do PPCUB, portanto as análises iniciais descritas a seguir se referem apenas a estas legislações. Ao avançar do trabalho, surgiu a demanda de incluir o PDTU e o PLANDHIS nas propostas, que aparecerão finalizados na Carta ao Distrito Federal pelo Direito das Mulheres à Cidade.
em
25
fazem periodicamente 1988 Promulgada a Constituição Federal 1993 Promulgada a Lei Orgânica do DF 2001 Surge o Estatuto da Cidade 2009 Promulgado o PDOT vigente 2012 O PDOT passa por alterações 2011 Promulgado o PDTU 2012 Elaborado o PLANDHIS 2019 Promulgada a LUOS vigente 2020 Lei Orgânica é atualizada 2021 PDOT em processo de revisão
processo
se
202? PPCUB segue
de elaboração
PDOT vigente é a Lei Complementar nº 803 de 25 de abril de 2009, com alterações decorrentes da Lei Complementar nº 854 de 15 de outubro de 2012. O PDOT abrange a totalidade do território distrital, e entre seus princípios e objetivos, estão:
• a garantia do cumprimento da função
social da propriedade urbana e rural buscando justa distribuição dos benefícios e ônus do processo de urbanização;
• a busca por assegurar justa e equilibrada distribuição das oportunidades de emprego e renda no DF como forma de reverter o quadro de concentração de emprego e renda na região do Plano Piloto;
• assegurar a participação da sociedade no planejamento, gestão e controle do território colocando a população como corresponsável nestas decisões;
• assegurar o uso do direito de todos à cidade sustentável, considerando as dimensões econômica, social, ambiental, cultural e espacial;
• promover a melhoria da qualidade de vida da população e reduzir as desigualdades socioespaciais, promovendo distribuição equilibrada dos equipamentos e serviços básicos.
Para direcionar as ações do ordenamento territorial seguindo os princípios acima resumidos, os objetivos específicos do

26 O
13
Fonte: Documento Técnico - PDOT, p.
PDOT
plano são separados nos seguintes temas: Ordenamento Territorial; Patrimônio Cultural e Ambiental do DF; Economia; Transporte Urbano; Habitação e Regularização Fundiária; Participação Popular.



O fato de que o custo da moradia está relacionada à sua distância/tempo da “área central” é um dos poucos consensos entre os especialistas em desenvolvimento urbano. As exceções são causadas por atributos espaciais como por exemplo a presença de praias, lagos, parques e afins, que elevam os preços. A presença de áreas degradadas também interferem nessa lógica, baixando os preços dos terrenos próximos. As ocupações informais, normalmente em áreas degradadas e que acabamos chamando de favelas, são tentativas da população mais pobre em se estabelecerem mais próximas ao centro, onde se concentram os empregos, equipamentos de lazer, hospitais, universidades e demais atrativos. Disto, apreendem-se dois elementos que podem ser usados para descrever a estrutura urbana do DF: os padrões de distribuição da população nas áreas urbanas, e os padrões de deslocamentos cotidianos da população. No Distrito Federal, a Zona Central concentra, por exemplo, 43,4% dos postos de trabalho formal. Taguatinga se coloca como

Densidade populacional

Nº de habitantes do DF, por Regiões Administrativas onde residem.
Fonte: CODEPLAN, 2018.



Número de postos de trabalho formal.
Nº de ocupações formais por macro regiões
27
São
Paranoá Santa Maria Planaltina Gama R. das Emas Riacho Fundo Água Claras Núcleo Band Samambaia Ceilândia Taguatinga Guará Brazlândia Brasília Sobradinho
Sebastião
Região Oeste 796.077 27,9% Ceilândia 489.351 Samambaia 254.439 Brazlândia 52.287 Centro-Oeste 632.448 22,1% Taguatinga 222.598 Guará 119.950 N. Bandeirante 24.000 Riacho Fundo 39.200 Águas Claras 119.000 Outras 107.700 Sul 452.436 15,8% Gama 141.911 Santa Maria 125,123 Recanto das Emas 145.304 Outras 40.098 Nort e 367.493 12,8% Planaltina 189.421 Sobradinho 169.326 Outras 8.746 Central Adj 95.840 3,3% Lago Norte 37.455 Lago Sul 29.346 Outras 29.039 Leste 243.850 8,5% São Sebastião 108.650 Paranoá 49.650 Outras 85.550 Central 324.042 11,3% Brasília 220.393 Outras 103.649 Planaltina São Sebastião ranoá
Centro-Oeste 209.286 17,1% Taguatinga 95.890 7,9% Guará 30.327 2,5% Águas Claras 26.643 2,2% SIA 24.313 2,0% Outras 39.911 3,4% Central 514.500 43,4% Brasília 519.431 42,6% Outras 9.364 0,8% Região Oeste 158.810 13,0% Ceilândia 81.157 6,7% Samambaia 38.233 3,1% Outras 39.421 3,2% Norte 76.396 6,3% Planaltina 33.602 2,8% Sobradinho 25.424 2,1% Outras 17.370 1,5% Leste 35.907 2,9% Central Adj. e Núcleos Isolados 45.958 3,7% Sul 52.153 5,2% Gama 32.569 2,7% Outras 30.363 2,5% Áreas com concentração humana.
e Regiões Administrativas de índice mais alto. Fonte: CODEPLAN, 2013.
o segundo polo mais importante, tornando-se uma centralidade regional das áreas mais populosas do DF. Fica assim ilustrada a dimensão de alguns dos desafios para a aplicação e execução dos objetivos pelos quais o PDOT revisado se propõe.
De acordo com a pesquisa Fluxos Intrametropolitanos do Distrito Federal e Regiões Adjacentes da CODEPLAN de 2014, apenas cerca de 36% da população brasiliense trabalha na RA em que reside, e a pesquisa realizada pela Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos (SEDESTMIDH) e pela CODEPLAN em parceria com o DIEESE, em 2017 apontou que, até então, no DF existiam 1,3 milhões de pessoas ocupadas, das quais 47,3% eram mulheres e 52,7% homens. No entanto, é possível perceber que em nenhum momento nos princípios e objetivos do PDOT se considera que a vivência das mulheres no espaço urbano possui demandas específicas. Sua elaboração se baseia em falsa política de “neutralidade de gênero”. Mas não basta “adicionar as mulheres e misturar”, ignorando toda a significação social que a diferença sexual carrega: a relação de poder e dependência milenarmente construída entre os sexos. Esse tipo de abordagem de política urbana


apenas funcionaria se vivêssemos em uma sociedade sem gênero (OKIN, 2008).
O processo de elaboração do PDOT pode ser dividido em cinco grandes etapas, cada uma contendo fases específicas que podem ser observadas na íntegra no fluxograma abaixo. Podemos, de forma muito enxuta e sucinta, resumir da seguinte maneira:

• A primeira foi a elaboração do plano de trabalho e metodologia.

28
2ª Audiência Pública do PDOT. Fonte: Doc. Técnico - PDOT, p.12
Audiências Locais do PDOT. Fonte: Doc. Técnico - PDOT, p.14
Estratégia de participação da sociedade. Fonte: Documento Técnico - PDOT, p.14
• A segunda etapa elaborou estudos especiais e sistematizou os dados já disponíveis, além de também organizar e executar o processo da participação popular.
• A terceira etapa levantou problemas centrais e demandas acumuladas desde o PDOT/2009, que culminaram no estabelecimento de diretrizes gerais e um “pré-zoneamento” do território. Formalizou-se então a primeira Audiência Pública.
• A quarta etapa consistiu de discussões com os diversos organismos técnicos e agências interessadas no planejamento territorial, das quais se pretendiam resultar em uma proposta preliminar. Concomitante a isso, deu-se continuidade via internet e reuniões em diversas localidades. Tudo isso culminou na segunda Audiência Pública.
• As mudanças decorrentes das audiências e debates resultaram na elaboração da proposta preliminar de Lei do PDOT, que viria a ser apresentada na terceira Audiência Pública. Desta, obteve-se a revisão final que veio a se tornar o Projeto de Lei encaminhado para a Câmara Distrital.
Desta forma, a participação da sociedade ocorreu através das Audiências Públicas gerais, audiências locais e através de
consulta via internet.
Observando as diretrizes do PDOT é possível identificar em diversos capítulos problemáticas pontuais quando se leva em conta questões específicas das mulheres. No Capítulo III, por exemplo, que trata do Sistema de Transporte, do Sistema Viário e de Circulação e da Mobilidade, temos no art. 17, inciso III que a acessibilidade é entendida como a possibilidade e condição de acesso amplo e democrático ao espaço urbano e sistema de transporte. No art. 18, que pontua as diretrizes para o transporte do DF, temos no artigo III: “universalizar o atendimento, respeitando os direitos e divulgando os deveres dos usuários do sistema de transporte”. Mas muitas mulheres deixam por exemplo de usar os pontos de ônibus ou estações de metrô mais próximos de suas casas por não se sentirem seguras com o desenho e estrutura urbana no qual os mesmos estão inseridos.
A noção de acessibilidade precisa incluir as demandas de desenho urbano específicas para a segurança das mulheres. Quando uma mulher com plena capacidade de movimento, visão e audição não se sente segura, uma mulher com deficiência possivelmente se sentirá muito menos. Disto, temos a grave problemática da noção de se “universalizar
Segundo Vóila B. Cassar, assédio é o termo utilizado para designar toda conduta que cause constrangimento psicológico ou físico à pessoa. A partir dessa definição, você:
- Já se sentiu assediada no trajeto até o metrô
55,6%
- Já se sentiu assediada no interior do metrô ou estações Já se sentiu assediada em ambos
Não se sentiu assediada em nenhum
Em caso de positiva, o assédio que você sofreu foi de cunho: - Sexual
Não se aplica
Especificamente sobre assédio verbal, você:
- Já foi verbalmente assediada no trajeto até o metrô
- Já foi verbalmente assediada no interior do metrô ou estações
Já foi verbalmente assediada em ambos
Não foi verbalmente assediada em nenhum
Em relação a assédios com intervenções físicas, como puxarem seu braço, te apalparem ou violências semelhantes, você:
Fonte: Mulheres que andam nos trilhos, 2020
29
14,4% 22,2% 7,8%
66,7% 15,6% 17,8%
Moral
4,4% 21,1% 31,1%
43,3%
81,1% 4,4% 4,4% 11,1%
o atendimento”, afinal, se no texto da lei não se especifica claramente os parâmetros para que este “universal” inclua as pessoas mais vulneráveis, como mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiências, então este universal é parte de uma falsa política de neutralidade, e toma homens adultos e sem deficiências como parâmetro.
O Capítulo V, do Desenvolvimento Econômico, se inicia com o Art. 32:
O desenvolvimento econômico corresponde ao processo de mudança estrutural de uma região em que a utilização dos recursos e das potencialidades se articula com a organização eficiente e dinâmica de sistemas produtivos no território, conduzindo ao aumento da produtividade, à elevação das condições de vida da população e à redução das desigualdades sociais.
Na mesma pesquisa anteriormente citada, que foi elaborada em conjunto pela SEDESTMIDH, CODEPLAN e DIEESE, além da desigualdade de ocuparmos aproximadamente 5% menos cargos, também há desigualdade entre o salário recebido pelo mesmo serviço, que é mais baixo para as mulheres, sobretudo as autônomas. Em oposição a isso, mulheres apresentam maior tempo de estudo que homens,
e 37,5% possuem estudo superior completo (esse valor para homens é 32,1%). De acordo com os Indicadores Sociais do IBGE de 2019, 63% das casas chefiadas por mulheres negras estavam abaixo da linha da pobreza. Para mulheres brancas e com filhos, a proporção de famílias abaixo da linha da pobreza era de 39,6%. Sabemos que no contexto de pandemia todos esses dados se agravaram. Desta forma, para que o planejamento das mudanças estruturais em prol do desenvolvimento econômico reduza de fato as desigualdades sociais, deveria especificar como uma de suas diretrizes a necessidade de promover equipamentos que facilitem o acesso das mulheres, sobretudo as mães, ao mercado de trabalho. No entanto, no art. 33 que descreve as diretrizes setoriais para o desenvolvimento econômico, e também no art. 34, sobre as áreas onde será incentivada a instalação de atividades geradoras de trabalho e renda,não há qualquer menção referente a isso.
O tema da habitação é tratado no Capítulo VII, e o art. 47 descreve:
A política de habitação do Distrito Federal deve orientar as ações do Poder Público e da iniciativa privada a fim de facilitar o
acesso da população a melhores condições habitacionais, que se concretizam tanto na unidade habitacional, quanto no fornecimento da infraestrutura física e social adequada.
No art. 48 é reforçado que o Sistema de Habitação do DF deve gerenciar a política habitacional de interesse social (e de mercado). Quando chegamos ao art. 49 que dá as diretrizes da política de habitação, poderia constar, por exemplo, que as famílias chefiadas sobretudo por mães solo devam ter prioridade no acesso às habitações de interesse social, afim de reduzir as desigualdades anteriormente citadas.
Para encerrar esta breve análise do PDOT levando em conta o recorte de gênero, no Capítulo VIII dos Equipamentos Regionais é possível apontar inúmeras falhas. Os equipamentos de uso institucional abrangem questões de saúde, educação, segurança pública, transporte... Entre os equipamentos educacionais, as creches não são citadas, no entanto são fundamentais até mesmo para que mulheres possam estar presentes no mercado de trabalho. Em segurança pública não são citados, por exemplo, os núcleos de atendimento para mulheres vítimas de violência. Além disso, o plano de equipamentos por macrorregiões deveria
30
trazer estratégias/diretrizes para melhoria da oferta e distribuição destes equipamentos, uma vez que trás no próprio art. 53 que a distribuição equânime dos equipamentos do DF é uma diretriz. O que se percebe
é, de fato, uma política que ignora a desigualdade entre os sexos e as demandas específicas que isso gera para as mulheres, uma vez que a igualdade social é um princípio fundamental.
Mapa da violência contra a mulher.
Inquéritos policiais e termos circunstanciados recebidos pelo MPDFT em 2019.
Fonte: Mulheres que andam nos trilhos, 2020
31
Ceilândia 2.727 Brasília 1.745 Samambaia 1.341 Planaltina 1.275 Sobradinho 1.157 Recanto das Emas 981 Taguatinga 944 Águas Claras 908 Gama 902 Santa Maria 826 São Sebastião 751 Paranoá 693 Recanto das Emas 645 Guará 520 Brazlândia 407 Núcleo Bandeirante 318 Demais regiões 51 Lagos e represas
Planaltina
São Sebastiã o Paranoá Santa Mari a
Gama
R. das Emas Riacho Fundo
Águas Claras Núcleo Band.
Ceilândia Taguatinga
Brazlândi
Brasíli a Sobradinho
Samambaia
Guará
a
PPCUB trará as aplicações detalhadas das estratégias e zoneamentos estipulados pelo PDOT referentes à área tombada. Ainda está em processo de elaboração, com perspectiva de encaminhamento para a aprovação na Câmara Distrital entre este ano e o próximo, porém sem data certa. Como ainda não existe sequer uma proposta de documento pronta encaminhada para a aprovação, e uma vez na Câmara ainda pode sofrer alterações, é importante ressaltar que aqui analisaremos apenas a Proposta de Minuta do PPCUB, datada de 2017 e que no presente momento já sofreu alterações e ainda está em processo de melhorias e transformações.
A inclusão do Conjunto Urbanístico de Brasília (CUB) na lista do Patrimônio Mundial da UNESCO é fundamentada por inúmeros valores e atributos, como por exemplo as quatro escalas urbanas instituídas por Lúcio Costa: a monumental, a residencial, a gregária e a bucólica, e a forma como interagem entre si. Outros atributos constituintes do CUB são a estrutura viária como integradora
das escalas urbanas, o conjunto urbanístico do Eixo Monumental, as superquadras e o conceito de unidade de vizinhança, a cidade-parque com seus espaços abertos e verdes, a orla do Lago Paranoá com livre acesso entre outras tantas.

Ainda sobre o espaço do CUB, no art. 7º do documento proposto consta que o modelo de parcelamento do solo se expressa por
meio de diretrizes como a permeabilidade visual e a livre circulação de pedestres. Aqui já é possível observar conflitos entre o texto e a experiência que as mulheres têm do Plano Piloto. Quando analisamos o trajeto dos pedestres, o fator permeabilidade visual inexiste nas passarelas subterrâneas, por exemplo, e este é um dos fatores que as tornam tão inseguras. Além disso, mesmo onde não há barreiras físicas, as barreiras
32
PPCUB
Escalas do CUB. Fonte: Apresentação PPCUB, SEDUH DF, 2017.
geradas pelo medo que se apresentam para as mulheres refletem em consequências de limitações físicas em seus direitos à livre circulação. Isto também fere o inciso VI do Art. 16, que afirma que um dos princípios pelos quais o plano é regido é a “garantia de acessibilidade ao pedestre e de mobilidade para a população do CUB compatíveis com a especificidade do sítio urbano tombado”.
No art. 17 são apresentados os objetivos gerais, e resumidamente todos dizem respeito apenas à preservação. Preservar o Conjunto Urbanístico de Brasília é fundamental e de importância ímpar, mas apenas preservar não basta. No território urbano todos os conflitos e dinâmicas sociais se manifestam, e deveria ser objetivo fundamental do PPCUB assegurar, a nível de planejamento urbano a melhoria da segurança da população, sobretudo nos caminhos dos pedestres, por exemplo.
A garantia de acessibilidade à todas as escalas deve ser garantida a todas as pessoas, desde as mais diversas especificidades humanas como ser mulher, ser idosa, ser criança, ter deficiências. Deve também promover a inclusão da parcela mais pobre da população à essa região para combate das desigualdades sociais territoriais, entre tantos outros princípios fundamentais ditados
pela Constituição, Estatuto da Cidade e PDOT deveriam se fazer presentes aqui. Igualmente no art. 18 que apresenta as diretrizes gerais do PPCUB, não há nenhuma menção às questões de promoção de igualdade social e garantia do direito à cidade para todas as pessoas que nela habitam, ignorando neste primeiro momento a função social do território urbano ao qual o CUB também está submetido.

Há um ponto positivo no art. 22, que trata das diretrizes do componente da paisagem urbana para gestão e intervenção no território, pois o inciso IV determina que deve ser promovida a adequação e qualificação urbanística dos espaços públicos com as normas de acessibilidade, inserindo sinalização e modernização do mobiliário urbano. Poderia, no entanto, se acrescer à essa preocupação a melhoria da segurança nesses espaços, o que também pode ser solucionado através de modernização de equipamentos e mobiliários urbanos, como por exemplo o avanço na sensação de segurança que os pontos de ônibus projetados por Nicolas Grimshaw em 1996, de aço, vidro e alumínio, possuem em relação àqueles de alvenaria projetados por Sabino Barroso em 1961. Outro fator imprescindível à segurança e que carece de melhorias

33
Ponto de ônibus projetado por Nicolas Grimshaw em 1996. Fonte: https://noticias.r7.com/distrito-federal/
Ponto de ônibus projetado por Nicolas Grimshaw em 1996. Fonte: https://noticias.r7.com/distrito-federal/
urgentes é a iluminação, sobretudo dos caminhos de pedestres, e igualmente isto não apresenta nenhum tipo de conflito com os elementos tombados. A iluminação existente não é suficiente, e algumas soluções possíveis, como por exemplo holofotes posicionados no chão iluminando a copa das árvores que ficam em trajetos, além aumentar a segurança ainda agregariam valor estético e destacariam a beleza e a importância da escala bucólica. Entraria, inclusive, em acordo com o inciso II do art. 23 que apresenta as diretrizes gerais para mobilidade no CUB, onde se afirma a priorização no tratamento do espaço público dos modos não motorizados de transporte, em especial às infraestruturas destinadas às pedestres e ciclistas.
Em relação às diretrizes gerais da Minuta, vale ainda citar o art. 25 que apresenta as diretrizes para a política habitacional no CUB visando qualificar a produção habitacional e adequar a provisão de moradias ao défict e demanda habitacional. No citado artigo, valem ser pontuados os seguintes incisos:
III - O fomento, à luz da justiça social, da inserção de habitação de interesse social em áreas centrais dotadas de infraestrutura e serviços, em contraponto à tendência
de espraiamento da ocupação territorial no Distrito Federal;
VIII - o fomento da inserção de diversas faixas de renda de interesse social nos empreendimentos habitacionais, contribuindo para a redução da segregação socioespacial no Distrito Federal;
XI – o atendimento preferencial, nos empreendimentos de interesse social, à população que trabalha no CUB e à população em déficit habitacional, que mora ou trabalha na Unidade de Planejamento Territorial Central;
XII – a criação de alternativas de moradia para população jovem, nas regiões centrais, com diversidade tipológica e adequadas à faixa de renda;
Aqui a preocupação com a função social do terreno urbano é manifesta, no entanto considerando que nos índices de pobreza gerais a maior porcentagem da população nessa situação são mulheres, principalmente mães, é incoerente que estas não sejam colocadas como prioridade nos atendimentos dos empreendimentos de interesse social, sobretudo no Plano Piloto. É impossível combater a desigualdade sem antes reconhecê-la.
34
A Lei de Uso e Ocupação do Solo vigente é de janeiro de 2019. Ela apresenta os critérios e parâmetros de uso e ocupação do solo referentes às demais regiões do Distrito Federal, seguindo as estratégias e zoneamentos estipulados pelo PDOT. O Capítulo II (Art. 3º) apresenta os princípios norteadores da Lei, e o Capítulo III (Art. 4º) apresenta seus objetivos, sendo importante ressaltar:
Art. 3º São princípios estruturadores da LUOS:
I - a garantia da função social da propriedade urbana;
II - a justa distribuição de benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização;
IV - o desenvolvimento urbano sustentável, a partir da convergência das dimensões social, econômica e ambiental, com reconhecimento do direito à cidade para todos;
X - a prevalência do interesse coletivo sobre o individual;
XI - a gestão democrática da cidade com inclusão e participação social.
Art. 4º São objetivos da LUOS:
I - propiciar a descentralização da oferta de emprego e serviços, de habitação e dos equipamentos de educação, saúde e lazer;
II - aumentar a diversidade de usos e atividades para promover a dinâmica urbana e a redução de deslocamentos; No processo da elaboração da LUOS foram incluídos os antigos Planos Diretores Locais, tendo vários deles sendo levados à extinção uma vez que seu conteúdo passou a compor, como era ou com revisões, a nova legislação. Foram também incluídos na LUOS as normas de gabarito das RAs que não vieram a possuir PDL próprio. Ao todo 24 localidades urbanas são abrangidas pela lei, o que a torna consideravelmente vasta (o que pode ser um problema no que diz respeito a questões específicas de caráter muito local).
A maior parte do seu texto trata de quesitos técnicos como coeficientes de aproveitamento, gabaritos, afastamentos, etc., e este trabalho não será direcionado a estas questões. Existem, porém, questões relacionadas às Unidades de Ocupação do Solo (UOS) referentes a equipamentos urbanos, sobretudo de uso institucional, que podem se apresentar como verdadeiros obstáculos à
vida, ao trabalho e à liberdade das mulheres (como está apresentado no texto da Carta referente a essa legislação).
Outra possibilidade de intervenção se apresenta na Seção X que trata sobre as divisas dos lotes. Esta seção aborda a permeabilidade das fachadas das edificações e o cercamento dos lotes, determina e dá as diretrizes das fachadas ativas, questões de acessibilidade, e afins. As diretrizes sobre como as fachadas devam ser intervém em questões de seguranças como já foi apresentado anteriormente, e o (não) cercamento de lotes baldios, por exemplo, também possui significante relevância neste quesito.
35
LUOS
Referências
36
Referências por parte de um projeto de mestrado da arquiteta Daniela Pareja Garcia Sarmento, que envolveu amplo processo participativo, diversas reuniões com mulheres e coletivos de mulheres, e ao final culminou na elaboração conjunta da “Carta das Mulheres para a Cidade de Blumenau: as demandas das mulheres para construção de políticas urbanas”, e que já surtiu efeitos na política urbana da cidade. A dissertação de Daniela, intitulada “A Participação da Mulher na Construção da Cidade Contemporânea: contribuições para um novo modelo de planejamento urbano em Blumenau/SC” é uma forte referência norteadora para as próximas etapas de elaboração deste projeto de diplomação. A metodologia por ela utilizada foi a proposta no livro “Espacios Para La Vida Cotidiana: Auditoria de Calidade Urbana com Perspectiva de Gênero” da pesquisadora Adriana Ciocoletto.
As pautas específicas das vivências das mulheres em relação ao urbanismo se iniciaram na década de 1970 juntamente a outros históricos movimentos sociais (ALIAGA, 2021). Os frutos dos debates da crítica feminista ao urbanismo já podem ser observados. Assim, o estudo das referências incluiu uma busca por identificar políticas urbanas pautadas em questões relevantes para a inclusão das mulheres no cotidiano das cidades com igualdade de acesso e cidadania. Interessam observar aqui estratégias, metodologias ou diretrizes já aplicadas em outros planos diretores. Os exemplos escolhidos são dos municípios de São Paulo e Santo André no estado de São Paulo, e Blumenau no estado de Santa Catarina.
A escolha das duas cidades paulistas deve-se ao fato de serem as únicas cidades brasileiras que passaram pela experiência de inclusão da questão de gênero por meio de intermédio do movimento de mulheres, e que tiveram suas experiências em políticas urbanas publicadas. Vale ressaltar que no caso de Blumenau o processo se deu
37
Município de São Paulo
plano diretor vigente do município de São Paulo é a Lei municipal nº 16.050 de julho de 2014. O processo de sua elaboração contou com 60 audiências públicas, consultas pela internet e direito à palavra assegurado à todas. Participaram da elaboração do documento inúmeras entidades sociais, coletivas e afins, inclusive coletivas de mulheres/feministas. No próprio texto de apresentação da Lei, é afirmado:
São Paulo é extremamente desigual. Os investimentos, as oportunidades de emprego e a oferta de bens e serviços urbanos são concentrados em uma pequena parcela central do território, enquanto a vulnerabilidade predomina nas áreas periféricas. É possível, sobre essa estruturação urbana, traçar paralelo com o Distrito Federal, mesmo com todas as diferenças entre ambos os casos. A lei dispõe sobre a Política de Desenvolvimento Urbano, o Sistema de Planejamento Urbano e o Plano Diretor Estratégico (PDE) do Município de São Paulo, sendo válido em toda a sua abrangência.

Fluxograma da função social da propriedade.
p.17
38 O
Fonte: Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo,
A preocupação com a promoção da igualdade social não é apresentada apenas a nível de diretrizes. O plano já trás determinações através das quais isso pode ser executado. Um exemplo é impor a destinação mínima de 30% do Fundo de Desenvolvimento Urbano para a aquisição de imóveis bem localizados (áreas com empregos e infraestrutura bem estabelecida). Impõe também que a isto se some ao menos 25% dos recursos arrecadados em Operações Urbanas Consorciadas como formas de garantir fontes de financiamento para habitação de interesse social. O plano diretor é compromissado em efetivar o princípio da função social da propriedade urbana, e uma das formas em que isso é feito pode ser observada no fluxograma da página anterior.
No Capítulo II que trata dos princípios, diretrizes e objetivos é possível identificar os seguintes tópicos relevantes a serem citados, sobretudo para fins comparativos às nossas legislações distritais equivalentes:
Art. 5º Os princípios que regem a Política de Desenvolvimento Urbano e o Plano Diretor Estratégico são:
I - Função Social da Cidade;
II - Função Social da Propriedade Urbana;
III - Função Social da Propriedade Rural;
IV - Equidade e Inclusão Social e Territorial;
V - Direito à Cidade;
VI - Direito ao Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado;
VII - Gestão Democrática.
§ 1º Função Social da Cidade compreende o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social, ao acesso universal aos direitos sociais e ao desenvolvimento socioeconômico e ambiental, incluindo o direito à terra urbana, à moradia digna, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho, ao sossego e ao lazer.
§ 4º Equidade Social e Territorial compreende a garantia da justiça social a partir da redução das vulnerabilidades urbanas e das desigualdades sociais entre grupos populacionais e entre os distritos e bairros do Município de São Paulo.
Art. 7º A Política de Desenvolvimento Urbano e o Plano Diretor Estratégico se orientam pelos seguintes objetivos estratégicos:
XIII - reduzir as desigualdades socioterritoriais para garantir, em todos os distritos da cidade, o acesso a equipamentos sociais, a infraestrutura e serviços urbanos;
Existem inúmeros pontos iguais ou equivalentes, que derivam das próprias diretrizes estabelecidas tanto pela Constituição quando pelo Estatuto da Cidade, porém com níveis um pouco maiores de enfoque sobre as questões sociais. Tal qual apontado em relação ao PDOT, não constam nessas diretrizes e objetivos o reconhecimento da existência das demandas específicas que as mulheres possuem em relação à cidade.
No Capítulo VIII no entanto, algumas das necessidades específicas das mulheres são reconhecidas.
Art. 303. Os objetivos do Sistema de Equipamentos Urbanos e Sociais são:
I - a proteção integral à família e à pessoa, com prioridade de atendimento às famílias e grupos sociais mais vulneráveis, em especial crianças, jovens, mulheres, idosos, negros e pessoas com deficiência e pessoas em situação de rua;
II - a redução das desigualdades socioespaciais, suprindo carências de equipamentos e infraestrutura urbana nos bairros com maior vulnerabilidade social;
Art. 305. As ações prioritárias no Sistema de Equipamentos Urbanos e Sociais são:
VII - expandir a rede de Centros de Educa-
39
ção Infantil - CEI e a rede de Escolas Municipais de Educação Infantil - EMEI, inclusive por meio da rede conveniada e outras modalidades de parcerias;
XIV - aprimorar as políticas e a instalação de equipamentos, visando à viabilização das políticas de acolhimento e proteção às mulheres vítimas de violência;
A expansão da rede de educação infantil é fundamental para combater a desigualdade social entre homens e mulheres sobretudo no mercado de trabalho, uma vez que muitas mães acabam não podendo trabalhar fora de casa por não terem com quem deixar seus filhos. Não é possível pensar em inclusão das mulheres sem pensar nas mães e suas demandas ainda mais específicas, que se mesclam às demandas das crianças.
A Comissão de Defesa da Mulher da Câmara
Municipal de São Paulo apresentou, em audiência pública realizada em dezembro de 2002, inúmeras reivindicações com perspectiva de gênero para o desenvolvimento de políticas urbanas, como sugestão a serem incluídas no PDE-SP. As principais recomendações podem ser lidas ao lado, e apesar de terem claramente influenciado alguns pontos, fica visível o quanto ainda é possível melhorar:
Diretrizes
a) Priorizar programas habitacionais com subsídios para mulheres que chefiam as famílias;
b) Garantir que o título da propriedade ou de concessão real de uso seja feito em nome da mulher;
c) Na questão do uso do solo, a criação da lei que obriga a murar os terrenos vazios da cidade;
d) Desenvolver campanhas educativas de combate ao assédio sexual nos transportes;
e) Garantir a aplicação de normas que garantam a acessibilidade aos edifícios e levem à diminuição das barreiras arquitetônicas, promovendo o rebaixamento de guias para locomoção dos carrinhos de bebês, de feira, etc.;
f) Relocação dos pontos de ônibus em lugares ermos, pois favorecem o estupro das mulheres;
g) Banheiros públicos de qualidade e gratuitos, localizados em locais centrais e periferias;
h) Criar condições para as mulheres utilizarem os espaços públicos com estrutura para atender as necessidades dos filhos, como fraldário, bancos, playground, arborização;
i) Criação de itinerários interbairros, que passem
pelas creches, escolas, unidades básicas de saúde e comércio;
j) Garantir a aplicação de normas para diminuir as barreiras arquitetônicas de edifícios e espaços públicos, qualificar os passeios com rebaixamento da via para acesso de carrinhos de bebês, cadeirante, idosos;
k) Fortalecimento e implementação dos espaços de amparo a mulheres vítimas da violência doméstica e sexual;
l) Aumento do número de creches e escolas integrais, como os Centros de Artes e Esportes Unificados - CEUS;
m) Iluminação pública como estratégia para garantir segurança;
n) Sistema de sinalização nos espaços da cidade que possam oferecer risco de violência contra a mulher;
o) Garantir a participação da mulher em organismos de representação, como orçamento participativo, conselhos e conferências;
p) Participação das entidades das mulheres nas agências de desenvolvimento social e econômico.
40
Fonte: Sarmento, 2017
Específicas para as Mulheres sugeridas para inclusão no PDE-SP. 09/2002
Município de Santo André
O plano diretor vigente no município de Santo André se apresenta na Lei municipal nº 9.394 de janeiro de 2012 e possui abordagem muito progressista no que diz respeito às questões sociais e combates às desigualdades a nível de planeamento urbano. Logo no Título I, que diz respeito aos princípios fundamentais e objetivos gerais da política urbana social, temos:
Art. 4º As funções sociais da cidade no Município de Santo André correspondem ao direito à cidade saudável e sustentável para todos e todas, o que compreende o direito à terra urbanizada, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura e serviços públicos, ao transporte coletivo, à mobilidade urbana e acessibilidade, ao trabalho, à cultura e ao lazer.
Pode parecer pouco, ou muito sutil, mas o uso da palavra “todas” compreende a existência das especificidades femininas, e não nos anula dentro de uma falsa neutralidade ao nivelar as mulheres dentro do masculino (OKIN, 2008). E continua:
Art. 7ºA O Poder Público Municipal deve combater a exclusão e as desigualdades sociais adotando políticas públicas que promovam e ampliem a melhoria da qualidade de vida dos seus munícipes atendendo às suas necessidades básicas, garantindo a fruição de bens e serviços socioculturais, urbanos e de proteção ambiental que o Município oferece.
Parágrafo único O Poder Executivo Municipal deve assegurar que toda a população andreense seja assistida, sem qualquer tipo de discriminação, bem como promover e garantir o cumprimento dos Direitos Humanos.
Art. 7º C As ações do Poder Público devem garantir a transversalidade das políticas de gênero, orientação sexual, raça e etnia, bem como daquelas destinadas às crianças, adolescentes, jovens, idosos e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, permeando o conjunto das políticas públicas do Município, buscando alterar a lógica da desigualdade e discriminação nas diversas áreas.
Nenhuma das legislações urbanas anteriormente apresentadas citam garantia e cumprimento dos Direitos Humanos, enquanto há quase uma década isso se faz presente na de Santo André. Além disso,
as desigualdades sociais que os mesmos visam combater são explicitamente citadas, incluindo as políticas de gênero.
Também de forma inédita nas legislações avaliadas, as demandas das mulheres são levadas em consideração até mesmo no que diz respeito às áreas verdes e de lazer:
Art. 18 A O Sistema Municipal de Áreas Verdes e de Lazer é elemento da Política de Saneamento Ambiental Integrado, com disposições sobre:
III - o tratamento paisagístico a ser conferido às unidades do sistema, de forma a garantir multifuncionalidade às mesmas e atender às demandas por gênero, idade e condição física
A lei traz ainda abordagens muito progressistas e inclusivas no que diz respeito a outras questões que não são exatamente o foco deste trabalho, como por exemplo referente à educação. No Capítulo VIII que trata da saúde, temos no art. 27 que, em relação às diretrizes da saúde:
VIII - desenvolver ações em consonância com os objetivos do milênio, quais sejam: acabar com a fome e a miséria; promover educação básica de qualidade para todos; promover condições de igualdade entre
41
sexos e valorização da mulher; reduzir a mortalidade infantil; melhorar a saúde das gestantes; combater a AIDS, a malária e outras doenças; promover qualidade de vida e respeito ao meio ambiente e estimular discussões com o objetivo de que todos trabalhem pelo desenvolvimento;
Assim como no processo da cidade de São Paulo, o movimento das mulheres na luta pela inclusão de nossas demandas específicas foi fundamental e determinante, e o processo foi muito semelhante. O Plano Diretor de Santo André foi o pioneiro a apresentar o Plano Municipal dos Direitos das Mulheres em 1990, e estabeleceu políticas específicas que passaram a ser incorporadas em todas as secretarias do município. Abaixo, é possível conferir síntese das principais diretrizes.
Diferente de Brasília, que data da segunda metade do século passado, a origem da cidade de Santo André se deu com um povoado que foi reconhecido como vila pelo então governo de São Paulo em 1553. Apesar da distinta natureza dos patrimônios, Santo André também possui inúmeros tombamentos e uma grande preocupação com a preservação dos mesmos. Desta forma, podemos aprender com seu exemplo que é possível uma política urbana que
concilie a preservação patrimonial e um real combate às desigualdades.
Plano Municipal dos Direitos das Mulheres de Santo André, 1990
I. Estabelecer políticas públicas aos órgãos municipais, combatendo a discriminação e objetivando a melhoria da qualidade de vida da população feminina da cidade;
II. Estabelecer maior participação do poder público na socialização do trabalho doméstico, visando a facilitar a gestão da vida cotidiana com melhoria e criação de equipamentos sociais, tais como: postos de saúde, creches, refeitórios, cozinhas e lavanderias coletivas, escolas em período integral;
III. Formular programa que incentive o emprego e incentivos fiscais, financeiros e técnicos, voltados especificamente para mulheres, de modo que se estimule a formação e o desenvolvimento de pequenas e micro empresas;
IV. Estabelecer normas para a formação de um banco de dados sobre a mulher no município, objetivando inventariar a situação da mulher;
V. Assegurar a participação das mulheres na elaboração, acompanhamento e gestão dos programas e equipamentos públicos.
Seção XII do Plano Municipal dos Direitos das Mulheres de Santo André, 1990. Fonte: Sarmento, 2017
42
Município de Blumenau
Em sua dissertação de mestrado “A Participação da Mulher na Construção da Cidade Contemporânea: contribuições para um novo modelo de planejamento urbano em Blumenau/SC”, após levantamento bibliográfico e documental sobre a história das mulheres e transformações dos espaços urbanos, sobre as noções de espaço público e espaço privado, direito das mulheres à cidade e então a relação das mulheres com a cidade de Blumenau, Sarmento organizou encontros que visavam promover o diálogo entre os diferentes grupos de mulheres participantes. Ela realizou seis encontros presenciais envolvendo 55 mulheres de Blumenau com perfis socioeconômicos diversos. As perguntas que nortearam os diálogos foram as seguintes:
1) Blumenau atende seu direito à cidade? Identificar as principais limitações que impedem as mulheres de exercerem seu direito à cidadania, à qualidade de vida e à emancipação.
2) Considerando a rotina do seu dia-a-dia, como você solucionaria os principais pro-
blemas levantados na questão anterior?
Identifique, por ordem de prioridade, quais questões devem estar na carta das mulheres para cidade.
3) Quais alternativas e soluções as mulheres incluiriam no planejamento da cidade?


A partir dos relatos obtidos, Sarmento sistematizou as principais demandas levantadas na forma da “Carta das Mulheres para a Cidade de Blumenau”, que foi lida e protocolada em junho de 2016 na Conferência Municipal das Cidades, sediada na mesma. No evento, o conteúdo da carta foi debatido e protocolado para encaminhamento para o processo de Revisão do Plano Diretor de Blumenau. O conteúdo da Carta também integrou o Manifesto Lilás, que se tratou de um documento construído por diversos coletivos de mulheres que compõem o movimento pela criação do Conselho Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres de Blumenau. Segue, na próxima página, a lista de demandas que compõe a carta entregue na Conferência das Cidades de 2016.

43
Foto do terceiro encontro “Lugares das Mulheres - World Café”. Fonte: Sarmento, 2017.
Acima, fotos da reunião do Movimento Lilás de setembro/2016. Imagem inferior retrata instalação pública feita pelas mulheres na Praça Lilás em novembro/2016. Fonte: Sarmento, 2017.
Lista de Demandas das Mulheres à Cidade de Blumenau, 2017.
a) Sobre a participação da mulher na cidade
• Inclusão das questões de gênero na formulação da lei do Plano Diretor das cidades como um capítulo de caráter transversal e integrado com todas as secretarias do município.
• Estimular e criar condições para que as mulheres participem das discussões sobre a cidade, facilitando os horários, realizando os encontros em locais descentralizados, disponibilizando o espaço para as crianças poderem acompanhar as mães que não tem com quem deixar seus filhos durante as atividades.
b) Sobre a segurança das mulheres na cidade
• Incorporar, oficialmente, no sistema de equipamento urbano da cidade, espaço para acolhimento e apoio às mulheres vítimas de violência, incluindo a estruturação da delegacia da mulher, plantão de apoio e assistência
social, bem como ampliar a quantidade de casas de apoio às mulheres.
• Criar lei responsabilizando donos de terrenos baldios e abandonados pela manutenção e constante limpeza, para mantê-los com boa visibilidade, pois esses espaços representam a principal causa de insegurança para as mulheres na cidade.
• Criar lei específica para incentivar que todos os prédios residenciais, comerciais e públicos, tenham abertura e uso prioritário virado para o lado da rua, evitando assim longos percursos vazios sem vitalidade.
c) Mobilidade e acesso à cidade para as mulheres
• Considerar como prioridade os investimentos em transporte público, pedonal e cicloviário.
• Criar sistema de transporte público que garanta mais horários para atividade da reprodução e mais segurança
para idosos e crianças.
• Ampliar a disponibilidade de horários de ônibus, criando um sistema pautado nas diversas demandas das cidades e levando-se em consideração a condição dos usuários, como, por exemplo, criar linhas exclusivas para estudantes, linha para interligar os equipamentos de saúde, ampliar os horários durante o final de semana para estimular os passeios e sociabilização.
• Ter um plano de arborização e calçadas que deem condições de caminhabilidade para todos, inclusive mulheres gestantes, carrinhos de bebê, idosos, cadeirantes, deficientes visuais, e pessoas com mobilidade reduzida.
• Dar prioridade para implantação do sistema de ciclovias. A bicicleta representa um forte aliado à mobilidade para execução de todas as tarefas cotidianas, ligadas à reprodução e à produção, mas para as mulheres torna-se ainda mais especial, devido à
44
Fonte: Sarmento, 2017.
possibilidade de se locomover com maior agilidade e autonomia.
• Disponibilizar os pontos de ônibus em locais iluminados e próximos de vitalidade. Permitir descida em qualquer lugar da cidade após as 20h apenas para as mulheres.
d) Equipamentos públicos e gestão da vida cotidiana
• Criação de um sistema de equipamentos de ensino para atendimento em tempo integral para creches e escolas, articulados com espaços e programas de cultura, arte e lazer e cidadania complementares. Que os espaços educacionais sejam prioridade de investimento público nas cidades.
• Criar programa de incentivos fiscais, renda e suporte técnico para criação de renda e empreendedorismo para mulheres.
• Implantar, nos espaços públicos, estrutura para acolher mães, crianças e
idosos, com infraestrutura de banheiros, fraldários e bebedouro.
• Reservar áreas verdes na cidade para implantação de parques e praças e áreas de preservação ambiental, com estrutura de lazer para todas as idades, atividades coletivas e educação ambiental para todas as idades.
• Utilizar com prioridade as áreas residuais da cidade, cedidas pelos loteamentos, para criar um sistema de micro praças e equipamentos públicos descentralizados, com diversidade de uso, como por exemplo: hortas comunitárias, feiras, parque infantil, campo de futebol, biblioteca, mini praças, pista de skate, patins, quadra de vôlei, etc.
• Implementar programas de segurança alimentar, criando sistema de hortas comunitárias, feiras livres com preços acessíveis e descentralizados na cidade, estimular a agricultura familiar e urbana.
e) Habitação
• Atender com urgência a falta de segurança vivida pelas famílias dos condomínios residenciais do Programa “Minha Casa Minha Vida” e moradores de áreas de risco, pois essa condição de vulnerabilidade afeta diretamente a vida de todos, mas, em especial, a vida das mulheres, por serem, em sua maioria, responsáveis pela administração do cotidiano e do sustento de suas famílias.
• Garantir e ouvir as mulheres moradoras das áreas de risco e conjuntos habitacionais para elaboração das políticas públicas habitacionais, assim como tornar os projetos habitacionais participativos.
45
Lista de demandas da Carta das Mulheres à Cidade de Blumenau. Fonte: Sarmento, 2017.
Lista de Demandas das Mulheres à Cidade de Blumenau, 2017.
Introdução à Carta
46
Introdução à Carta
O produto deste projeto, nomeado Carta ao Distrito Federal pelo Direito das Mulheres à Cidade possui um formato de cartilha através do qual buscou-se fazer um deslizamento coerente e fluido entre diferentes discursos: o texto das leis selecionadas, passíveis de revisão; o texto das demandas, diretrizes e legislações apresentadas nas referências; o texto que compõe a carta em si; e diversos gráficos, mapas, tabelas e imagens.
A intenção desta carta consiste não apenas em colaborar com a construção de um Distrito Federal mais igualitário, como também pretende levar o debate da crítica feminista ao urbanismo para um diverso perfil de leitoras, como estudantes, militantes e ativistas, trabalhadoras, políticas, de forma que seja compreensível a todas. As estratégias para realização desse objetivo consistiram na busca por uma linguagem acessível e no uso de recursos de diagramação como diferentes cores para diferentes tipos de textos ou alinhamentos específicos que distinguem os diferentes elementos.
As legislações e documentos apresentados são amplos e complexos, e assim também o é o patriarcado. Em seu livro Feminist City: Claiming Space in a Man-made World (Em tradução livre: Cidade Feminista: Clamando Espaço em um Mundo Feito por Homens), de 2020, Leslie Kern apresenta a afirmação: “qualquer construção é uma inscrição no espaço das relações sociais da sociedade que a construiu... Nossas cidades são o patriarcado inscrito em pedra, tijolos, vidro e concreto”. Para que a cidade passe a ser inclusiva e segura também a nós mulheres de forma equânime, é preciso revisar as normas e diretrizes que ditam sua construção, crescimento e transformações.
Uma vez que o almejado é uma cartilha independente deste caderno, algumas informações aparecerão de forma repetida pois estão baseadas nas análises iniciais apresentadas. Elementos como sumário e lista de siglas aparecem duplicados. A bibliografia deste Caderno e da Carta são coincidentes, e está apresentada apenas uma vez, ao final. O que será apresentado a seguir, compõe na forma integral que se pretende reproduzir como a carta, com ressalva para numeração das páginas, que seguirá a continuidade deste trabalho e a bibliografia, que é a mesma para caderno e carta. Em
função da grande quantidade de elementos textuais, e também considerando esse formato e público alvo, não há notas de rodapé. As indicações numéricas reaparecem na bibliografia em frente à referência utilizada.
Os principais eixos temáticos abordados, além de desigualdades sociais e econômicas, são segurança, mobilidade, equipamentos públicos e habitação de interesse social.
47
CARTA AO DISTRI TO FEDE RAL
PE LO DIREI TO DAS MULHERES À CIDADE
Sara Zampronha
AMAR.É.LINHA Observatório
Universidade de Brasília
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
CARTA AO DISTRITO FEDERAL PELO DIREITO DAS MULHERES À CIDADE
Autora: Sara Cristina de Carvalho Zampronha
Orientadora: Profª. Drª. Maribel Del Carmen Aliaga Fuentes
Co-orientadora: Profª. Drª. Carolina Pescatori
Observatório Amar.é.linha
01 de novembro de 2021
50 Sumário 51 Lista de Siglas 52 Apresentação 53 Tutorial de Leitura 55 PDOT 65 LUOS 72 PDTU 78 PLANDHIS 81 Minuta do PPCUB 88 Bibliografia
Lista de Siglas
CAU/Br Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
CGU Controladoria Geral da União
CLS Comércio Local Sul
CODEPLAN Companhia de Planejamento do Distrito Federal
CUB Conjunto Urbanístico de Brasília
DF Distrito Federal
DIEESE Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos
FUNDHIS Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social
IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
ICC Instituto Central de Ciências
IPG Instituto Patrícia Galvão
LUOS Lei de Uso e Ocupação do Solo
MPDFT Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
PDE-SP Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo
PDL Plano Diretor Local
PDOT Plano Diretor de Ordenamento Territorial
PDTU Plano Diretor de Transportes Urbanos e Mobilidade
PLANDHIS Plano Distrital de Habitação de Interesse Social
PPCUB Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília
RA Região Administrativa
SCS Setor Comercial Sul
SCIA Setor Complementar de Indústria e Abastecimento
SEDESTMIDH Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos.
SQS Superquadra Sul
UnB Universidade de Brasília
UOS Unidades de Ocupação do Solo
51
Apresentação
Esta carta é o produto final do projeto de conclusão de curso em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Brasília entitulado Distrito Federal para Mulheres: Propostas de Revisão dos Planos Diretores por uma Capital mais Igualitária e integra a Amar.é.linha Observatório de Pesquisas Feministas em Arquitetura e Urbanismo.
Após dados obtidos em meu Ensaio Teórico Mulheres que andam nos trilhos: elas estão seguras? Traçado Urbano e Segurança das Mulheres Usuárias do Metrô-DF, observou-se a presença de diversos empecilhos no que tange o direito à cidade, à segurança e à liberdade das mulheres. Na busca por colaborar pela construção de um Distrito Federal mais igualitário, esse trabalho se voltou às legislações e documentos que dizem respeito ao planejamento urbano com uma perspectiva crítica feminista.
Há décadas, críticas feministas denunciam o viés das políticas públicas que priorizam os homens, evidenciando uma estrutura que promove e mantém a desigualdade de oportunidades entre homens e mulheres (SARMENTO, Daniela. 2017). Dessa forma,
tanto as políticas urbanas quanto as teorias nas quais elas se baseiam carecem ser profundamente revisadas. Para isto, é preciso conhecer e considerar as formas específicas às mulheres de morar e utilizar a cidade; assegurar que a presença das mulheres seja garantida nos âmbitos sociais e políticos, favorecendo nossa participação; valorizar e socializar as atividades que tradicionalmente são realizadas por mulheres; e incorporar todas as necessidades que surgirem como assunto público (SARMENTO, Daniela. 2017).
Foram analisados o Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT), a Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS), o Plano Diretor de Transportes Urbanos e Mobilidade (PDTU), o Plano Distrital de Habitação de Interesse Social (PLANDHIS) e a Minuta do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCUB). Assim, esse trabalho abordou temas como segurança, mobilidade, equipamentos públicos e habitação.
As análises se estruturam em três diferentes estratégias: através da comparação com planos diretores que já incluíram a questão de gênero, no caso o Plano Diretor Estratégico de São Paulo (PDE-SP) e Plano Diretor do Município de Santo André, evidenciando diversos pontos passíveis de melhora nas
Leis distritais; pela análise de uma ampla diversidade de dados socio-ecômicos de fontes como IBGE e Companhia de Planejamento do DF (CODEPLAN); nas demandas e diretrizes apresentadas por mulheres no Plano Municipal dos Direitos das Mulheres de Santo André de 1990, nas Diretrizes Específicas para as Mulheres sugeridas para inclusão no PDE-SP em 2002 e na Lista de Demandas da Carta das Mulheres à Cidade de Blumenau, 2017, todas podendo ser encontradas na dissertação A Participação da Mulher na Construção da Cidade Contemporânea: contribuições para um novo modelo de planejamento urbano em Blumenau/SC da arquiteta Daniela Sarmento, e também nos depoimentos e dados obtidos no questionário do Ensaio Teórico previamente citado, em que foram alcançadas 90 mulheres. Estão apresentados trechos selecionados das leis e documentos na ordem em que aparecem nas mesmas, e as análises acompanham o texto a que se referem. Há temas que se repetem em diferentes legislações, e as análises referentes ao mesmo tema tendem a ser complementares, portanto recomenda-se ao menos uma leitura na íntegra, mesmo que seu interesse seja referente a alguma legislação específica.
Obrigada e boa leitura!
52
Tutorial de leitura:
Estas caixas roxas com escrita em branco, no alto de algumas páginas, contém o título da legislação que estará sendo analisada a partir dela.
PLANO DIRETOR DE ORDENAMENTO TERRITORIAL DO DISTRITO FEDERAL
LEI COMPLEMENTAR Nº 803, de 25/04/2009 com alterações decorrentes da LEI COMPLEMENTAR Nº 854, de 15/10/2012
Em cinza está o texto que compõe a carta, é o desenvolvimento das ideias, análises e afins.
Dentro das leis, em casos de alterações de Títulos, Capítulos ou Seções, haverá esta indicação
O PDOT é a principal legislação urbana do Distrito Federal e possui abrangência em todo o território distrital. São várias as macrozonas de planejamento por ele definidas, mas as primeiras e mais abrangentes são três: a macrozona urbana (em amarelo no mapa abaixo); a macrozona de proteção [ambiental] integral (em verde), e a macrozona rural (em cinza). Esta carta apresenta propostas que dizem respeito apenas à macrozona urbana, de forma à buscar adequar ou melhorar aspectos da legislação para que efetivamente se cumpram as diretrizes constitucionais, do Estatuto da Cidade, e presente no art. 2º do próprio PDOT, em relação à função social da cidade e o bem-estar de suas habitantes mulheres (que são aproximadamente 52% da população).

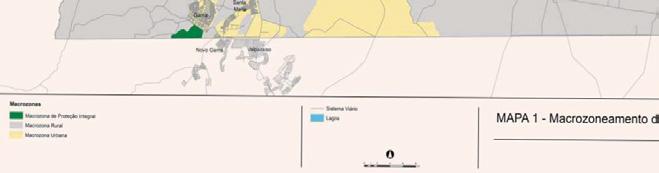


Macrozoneamento do Distrito Federal
Art. 1º Esta Lei Complementar dispõe sobre a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT e sua adequação às diretrizes e aos instrumentos constantes da Lei federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade, incorporando as políticas e diretrizes ambientais e setoriais implantadas no Distrito Federal.
Art. 2º O PDOT tem por finalidade propiciar o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e rural e o uso socialmente justo e ecologicamente equilibrado de seu território, de forma a assegurar o bem-estar de seus habitantes.
Art. 3º O PDOT é o instrumento básico da política urbana e da orientaçãodos agentes públicos e privados que atuam no território do Distrito Federal.
Parágrafo único. O PDOT abrange a totalidade do território do Distrito Federal e atende ao disposto na Constituição Federal, na Lei federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade e aos princípios da política urbana e rural contidos no Título VII da Lei Orgânica do Distrito Federal.
6
O texto em roxo no mesmo alinhamento vertical do título é composto por trechos selecionados da legislação nele indicada.
As imagens, gráficos ou tabelas podem complementar o texto da lei ou o texto da carta. Aquelas que não compõem o texto da lei analisada sempre trarão indicação da fonte na parte inferior.
TÍTULO I - DA POLÍTICA
TERRITORIAL
CAPÍTULO III - DOS OBJETIVOS GERAIS
Art. 8º Art. 8º São objetivos gerais do PDOT: I – melhoria da qualidade de vida da população e redução das desigualdades socioespaciais;
(...) V – ampliação das oportunidades de trabalho, equilibrando-se sua localização em relação à distribuição da população urbana e rural no território do Distrito Federal;
(...)
VII – distribuição equilibrada de áreas destinadas a equipamentos urbanos e comunitários;
(...)
XIV – garantia da implantação de infraestrutura e equipamentos públicos adequados para atendimento da população;
POSSÍVEIS REVISÕES:
TÍTULO I - CAPÍTULO II
Art. 8º, [Novo inciso] - incluir políticas afirmativas nas diretrizes dos planos setoriais, visando o combate às discriminações, à redução das desigualdades de sexo e cor/ etnia, da violência física, sexual e psicológica, da exploração de crianças, jovens idosos e demais segmentos vulneráveis da sociedade.
9
Exemplos de propostas de alteração do texto das legislações estão no mesmo alinhamento e também em tons de roxo, porém dentro de caixas tracejadas.
Existem mais de 1,5 milhão de pessoas do sexo feminino no DF, e a maioria delas possui entre 35 e 39 anos. Mulheres são mais de 52% da população1 apresentam maior tempo de estudo que os homens e no entanto ocupam 47,3% dos cargos de trabalho, contra 52,7% homens2 As regiões mais pobres do Distrito Federal também são as mais negras, como o Varjão, Estrutural, Itapoã e Recanto das Emas, que possuem cerca de 65% a 81% da população negra3 Pelos dados do perfil étnico-racial das vítimas de feminicídio do Distrito Federal entre 2006 e 2011, 80% das vítimas eram negras, e mais de 99% dos acusados, homens4 O combate às questões de desigualdade de cor/etnia e sexo deve se fazer presente nos objetivos do planejamento urbano.
PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ (SP)
TÍTULO - DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS E DOS OBJETIVOS GERAIS DA POLÍTICA URBANA E SOCIAL Art. 8º São objetivos gerais da política urbana e social:
I - promover o desenvolvimento econômico local, de forma social e ambientalmente sustentável;
II - garantir o direito universal à moradia digna, democratizando o acesso à terra e aos serviços públicos de qualidade;
III - reverter o processo de segregação sócio-espacial na cidade por intermédio da oferta de áreas para produção habitacional dirigida aos segmentos sociais de menor renda, inclusive em áreas centrais, e da urbanização e regularização fundiária de áreas ocupadas por população de baixa renda, visando à inclusão social de seus habitantes;
(...)
IX - elevar a qualidade de vida da população assegurando saneamento ambiental, infraestrutura, serviços públicos, espaços verdes qualificados e acesso à alimentação, educação, saúde, cultura, esporte e lazer;
(...)
XVIII - promover a inclusão social, reduzindo as desigualdades que atingem segmentos da população e se refletem no território, por meio de políticas públicas sustentáveis;
XIX - incluir políticas afirmativas nas diretrizes dos planos setoriais, visando o combate à discriminação, a redução das desigualdades de gênero, da violência física, sexual e psicológica, da exploração de crianças, jovens, idosos e demais segmentos vulneráveis da sociedade; (...) XXVI - elevar o Índice de Desenvolvimento Humano de Santo André.
Trechos das legislações, diretrizes e demandas de referência estarão alinhados ao texto do desenvolvimento, em tom alaranjado e dentro de caixas tracejadas de mesma cor.
53
I - DA POLÍTICA TERRITORIAL CAPÍTULO I - DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE ORDENAMENTO TERRITORIAL DO DISTRITO FEDERAL
TÍTULO
Fonte: Diário Oficial do DF, Suplemento ao DODF, Anexo I- Mapa 1 Macrozoneamento do Distrito Federal
“Por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres...”
Rosa Luxemburgo
PLANO DIRETOR DE ORDENAMENTO TERRITORIAL DO DISTRITO FEDERAL
LEI COMPLEMENTAR Nº 803, de 25/04/2009 com alterações decorrentes da LEI COMPLEMENTAR Nº 854, de 15/10/2012
TÍTULO I - DA POLÍTICA TERRITORIAL
CAPÍTULO I - DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE ORDENAMENTO TERRITORIAL DO DISTRITO FEDERAL
Art. 1º Esta Lei Complementar dispõe sobre a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT e sua adequação às diretrizes e aos instrumentos constantes da Lei federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade, incorporando as políticas e diretrizes ambientais e setoriais implantadas no Distrito Federal.
Art. 2º O PDOT tem por finalidade propiciar o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e rural e o uso socialmente justo e ecologicamente equilibrado de seu território, de forma a assegurar o bem-estar de seus habitantes.
Art. 3º O PDOT é o instrumento básico da política urbana e da orientaçãodos agentes públicos e privados que atuam no território do Distrito Federal.
Parágrafo único. O PDOT abrange a totalidade do território do Distrito Federal e atende ao disposto na Constituição Federal, na Lei federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade e aos princípios da política urbana e rural contidos no Título VII da Lei Orgânica do Distrito Federal.
O PDOT é a principal legislação urbana do Distrito Federal e possui abrangência em todo o território distrital. São várias as macrozonas de planejamento por ele definidas, mas as primeiras e mais abrangentes são três: a macrozona urbana (em amarelo no mapa abaixo); a macrozona de proteção [ambiental] integral (em verde), e a macrozona rural (em cinza). Esta carta apresenta propostas que dizem respeito apenas à macrozona urbana, de forma a buscar adequar ou melhorar aspectos da legislação para que efetivamente se cumpram as diretrizes constitucionais, do Estatuto da Cidade, e presente no art. 2º do próprio PDOT, em relação à função social da cidade e o bem-estar sobretudo de suas habitantes mulheres (que são aproximadamente 52% da população).
Macrozoneamento do Distrito Federal

55
Fonte: Diário Oficial do DF, Suplemento ao DODF, Anexo I- Mapa 1 - Macrozoneamento do Distrito Federal
TÍTULO I - DA POLÍTICA TERRITORIAL
CAPÍTULO II - DOS PRINCÍPIOS DO PLANO
Art. 7º O PDOT rege-se pelos seguintes princípios:
I – reconhecimento dos atributos fundamentais de Brasília como capital federal, centro regional e área metropolitana em formação;
II – fortalecimento do Conjunto Urbanístico do Plano Piloto de Brasília como Patrimônio Cultural da Humanidade;
III – garantia do cumprimento da função social e ambiental da propriedade urbana e rural;
IV – justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de desenvolvimento urbano e rural;
V – promoção da sustentabilidade do território, a partir da convergência das dimensões social, econômica e ambiental, com reconhecimento do direito de todos à cidade sustentável;
VI – distribuição justa e equilibrada das oportunidades de emprego e renda no Distrito Federal;
VII – visão sistêmica e integrada do processo de desenvolvimento urbano e rural, considerando as dimensões social, econômica, ambiental, cultural e espacial;
VIII – participação da sociedade no planejamento, gestão e controle do território;
IX – reconhecimento da necessidade de gestão compartilhada entre os setores públicos, privados e a sociedade civil, envolvendo os municípios limítrofes ao Distrito Federal.
Comparando os princípios do PDOT, apresentados na íntegra, com os do Plano Diretor do Município de Santo André e do Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo (próxima página) observa-se o quanto questões como justiça social, combate à exclusão e desigualdade social, e o desenvolvimento humano são pouco considerados. O inciso III apenas cita a garantia do cumprimento da função social. Não há explicações sobre o que documento entende por função social e não são apresentados parâmetros como nas legislações de referência:
PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ (SP)
TÍTULO I - DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS E DOS OBJETIVOS GERAIS DA POLÍTICA URBANA E SOCIAL
Art. 3º A política urbana deve se pautar pelos seguintes princípios:
I. função social da cidade;
II. função social da propriedade;
III. sustentabilidade;
IV. gestão democrática e participativa.
V. desenvolvimento humano e qualidade de vida.
Art. 4º As funções sociais da cidade no Município de Santo André correspondem ao direito à cidade saudável e sustentável para todos e todas, o que compreende o direito à terra urbanizada, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura e serviços públicos, ao transporte coletivo, à mobilidade urbana e acessibilidade, ao trabalho, à cultura e ao lazer.
(...)
Art. 7ºA O Poder Público Municipal deve combater a exclusão e as desigualdades sociais adotando políticas públicas que promovam e ampliem a melhoria da qualidade de vida dos seus munícipes atendendo às suas necessidades básicas, garantindo a fruição de bens e serviços socioculturais, urbanos e de proteção ambiental que o Município oferece.
Parágrafo único O Poder Executivo Municipal deve assegurar que toda a população andreense seja assistida, sem qualquer tipo de discriminação, bem como promover e garantir o cumprimento dos Direitos Humanos.
(...)
Art. 7º C As ações do Poder Público devem garantir a transversalidade das políticas de gênero, orientação sexual, raça e etnia, bem como daquelas destinadas às crianças, adolescentes, jovens, idosos e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, permeando o conjunto das políticas públicas do Município, buscando alterar a lógica da desigualdade e discriminação nas diversas áreas.
56
PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (SP)
TÍTULO I - DA ABRANGÊNCIA, DOS CONCEITOS, PRINCÍPIOS E OBJETIVOS
CAPÍTULO II - DOS PRINCÍPIOS, DIRETRIZES E OBJETIVOS
Art. 5º Os princípios que regem a Política de Desenvolvimento Urbano e o Plano Diretor Estratégico são:
I - Função Social da Cidade;
II - Função Social da Propriedade Urbana;
III - Função Social da Propriedade Rural;
IV - Equidade e Inclusão Social e Territorial;
V - Direito à Cidade;
VI - Direito ao Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado;
VII - Gestão Democrática.
§ 1º Função Social da Cidade compreende o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social, ao acesso universal aos direitos sociais e ao desenvolvimento socioeconômico e ambiental, incluindo o direito à terra urbana, à moradia digna, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho, ao sossego e ao lazer. (...)
§ 4º Equidade Social e Territorial compreende a garantia da justiça social a partir da redução das vulnerabilidades urbanas e das desigualdades sociais entre grupos populacionais e entre os distritos e bairros do Município de São Paulo.
§ 5º Direito à Cidade compreende o processo de universalização do acesso aos benefícios e às comodidades da vida urbana por parte de todos os cidadãos, seja pela oferta e uso dos serviços, equipamentos e infraestruturas públicas.
O Distrito Federal, enquanto capital do país, deveria possuir legislação urbana exemplar no que diz respeito à garantia de direitos humanos e bem-estar da população. A desigualdade social no DF deve ser combatida também no planejamento urbano. De acordo com a CODEPLAN, 2020, por exemplo, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita do DF foi o mais alto do país. No entanto, o que se observa é uma distribuição de renda extremamente desigual e relacionada às regiões administrativas. A SCIA/Estrutural e Varjão possuem o PIB mais baixo, de até R$500,00, enquanto o Lago Sul possui o valor mais alto, acima de R$7.000,00 1 .
Existem mais de 1,5 milhão de pessoas do sexo feminino no DF, e a maioria delas possui entre 35 e 39 anos. As mulheres na capital federal apresentam maior tempo de estudo que os homens, sendo que em 2017, 37,5% possuíam ensino superior completo, contra apenas 32,1% dos homens. No entanto ocupavam 47,3% dos cargos de trabalho, enquanto os homens 52,7%2. As regiões mais pobres do Distrito Federal também são as de maior população racializada, como o Varjão, Estrutural, Itapoã e Recanto das Emas, que possuem cerca de 65% a 81% da população negra3. Pelos dados do perfil étnico-racial das vítimas de feminicídio do Distrito Federal entre 2006 e 2011, 80% das vítimas eram negras, e mais de 99% dos acusados, homens4. O combate às questões de desigualdade entre os sexos e também de cor/etnia deve se fazer presente nos objetivos do planejamento urbano.
Distribuição da população brasileira com educação superior, por sexo. Brasil 1970-2010
Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010.
Os dados de distribuição por sexo da população brasileira com ensino superior mostram que na década de 1970 mulheres correspondiam a apenas 25%, enquanto homens eram 75% das pessoas com diploma. Somente após a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira de 1961 é que mulheres tiveram mais oportunidades de
57
0 20% 40% 60% 80% 100% 1970 1980 1991 2000 2010 74,4 25,6 45,5 54,5 51,1 48,9 47,2 52,8 41,8 58,2 Mulheres Homens
POSSÍVEIS REVISÕES:
TÍTULO I - CAPÍTULO II
Art. 7º,
VI – distribuição justa e equilibrada das oportunidades de emprego e renda no Distrito Federal [acrescentar:], garantindo transversalidade com as políticas de combate às desigualdades geográficas, de gênero, e cor e etnia.
[Novo inciso] - busca por Equidade Social e Territorial a partir da redução de vulnerabilidades urbanas e das desigualdades socioespaciais.
[Acrescentar após incisos]
Parágrafo único. A Função Social da Cidade corresponde ao atendimento das necessidades de todas e todos os cidadãos à qualidade de vida, justiça social, acesso aos direitos sociais e ao desenvolvimento socioeconômico e ambiental, incluindo cidade sustentável e saudável, à moradia digna, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte, aos serviços públicos, à segurança, ao trabalho, ao sossego, à cultura e ao lazer.
ingressar no ensino superior, e desde a década de 1990 se tornaram maioria5. Fica demonstrado que quando as legislações fornecem às mulheres as oportunidades de crescimento e liberdade, desigualdades sociais milenares podem ser combatidas.
No mercado de trabalho as mulheres também vêm aumentando sua participação, mas a desigualdade permanece. No Brasil na década de 1950, por exemplo, 80,8% dos homens eram economicamente ativos e apenas 13,6% das mulheres, já em 2010, 48,9% das mulheres compunham a população economicamente ativa (houve redução na taxa masculina para 67,1%)6. No Distrito Federal, em agosto de 2021 73,4% estavam empregados contra 59,6% das mulheres7. Enquanto mulheres somos menos presentes no mercado produtivo, sobre nós recaem mais horas das atividades não remuneradas relacionadas às tarefas domésticas e de cuidados das crianças e idosos8. A divisão sexual do trabalho e a dupla jornada são responsáveis, junto a outros fatores, pelos menores rendimentos das mulheres no mercado de trabalho e portanto, para se fazer cumprir o inciso VI do Art. 7º do PDOT, sobre a justa e equilibrada distribuição de emprego e renda no DF,
58
conta. 0 20% 40% 60% 80% 100% 1950 1960 1970 1980 1991 2000 2010 80,8 13,6 16,5 18,5 26,6 32,9 44,1 48,9 77,2 71,8 72,4 71,5 69,6 67,1
H-M
IBGE, Censos Demográficos de 1950, 1960, 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010. Taxas de participação na População Economicamente Ativa, por sexo. Brasil, 1950-2010
devem ser levadas em
Mulheres Homens Diferença
Fonte:
TÍTULO I - DA POLÍTICA TERRITORIAL
CAPÍTULO III - DOS OBJETIVOS GERAIS
Art. 8º Art. 8º São objetivos gerais do PDOT:
I – melhoria da qualidade de vida da população e redução das desigualdades socioespaciais;
(...)
V – ampliação das oportunidades de trabalho, equilibrando-se sua localização em relação à distribuição da população urbana e rural no território do Distrito Federal;
(...)
VII – distribuição equilibrada de áreas destinadas a equipamentos urbanos e comunitários; (...)
XIV – garantia da implantação de infraestrutura e equipamentos públicos adequados para atendimento da população;
Da mesma forma que os princípios regentes do PDOT devem levar em conta todas as especificidades das desigualdades sociais, combatê-las deve estar entre os objetivos gerais do plano. Mesmo que o primeiro inciso do artigo 8º demonstre essa preocupação, podemos ver no exemplo do Plano Diretor de Santo André que ao apresentar o objetivo de combater a segregação sócio-espacial já são expressas estratégias para tal, tornando o discurso da lei menos vago. Em relação ao inciso XIV, os equipamentos público exercem funções primordiais no combate às mais diversas desigualdades e violências e, ao reconhecer a natureza destas, a demanda e relevância de cada equipamento se torna mais nítida.
PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ (SP)
TÍTULO I - DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS E DOS OBJETIVOS GERAIS DA POLÍTICA URBANA E SOCIAL
Art. 8º São objetivos gerais da política urbana e social:
I - promover o desenvolvimento econômico local, de forma social e ambientalmente sustentável;
II - garantir o direito universal à moradia digna, democratizando o acesso à terra e aos serviços públicos de qualidade;
POSSÍVEIS REVISÕES:
TÍTULO I - CAPÍTULO II
Art. 8º
[Novo inciso] - incluir políticas afirmativas nas diretrizes dos planos setoriais, visando o combate às discriminações, à redução das desigualdades de sexo e cor/ etnia, da violência física, sexual e psicológica, da exploração de crianças, jovens idosos e demais segmentos vulneráveis da sociedade.
III - reverter o processo de segregação sócio-espacial na cidade por intermédio da oferta de áreas para produção habitacional dirigida aos segmentos sociais de menor renda, inclusive em áreas centrais, e da urbanização e regularização fundiária de áreas ocupadas por população de baixa renda, visando à inclusão social de seus habitantes;
(...)
IX - elevar a qualidade de vida da população assegurando saneamento ambiental, infraestrutura, serviços públicos, espaços verdes qualificados e acesso à alimentação, educação, saúde, cultura, esporte e lazer;
(...)
XVIII - promover a inclusão social, reduzindo as desigualdades que atingem segmentos da população e se refletem no território, por meio de políticas públicas sustentáveis;
XIX - incluir políticas afirmativas nas diretrizes dos planos setoriais, visando o combate à discriminação, a redução das desigualdades de gênero, da violência física, sexual e psicológica, da exploração de crianças, jovens, idosos e demais segmentos vulneráveis da sociedade;
(...)
XXVI - elevar o Índice de Desenvolvimento Humano de Santo André.
59
TÍTULO II - DAS DIRETRIZES SETORIAIS PARA O TERRITÓRIO
CAPÍTULO II - DO SISTEMA DE TRANSPORTE, DO SISTEMA VIÁRIO E DE CIRCULAÇÃO E DA MOBILIDADE.
Art. 17. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por:
I – sistema de transporte: conjunto de elementos com a função de permitir que pessoas e bens se movimentem, subordinando-se aos princípios da preservação da vida, da segurança e do conforto das pessoas, bem como aos da defesa do meio ambiente, do patrimônio arquitetônico e do paisagismo; (...)
III – acessibilidade: possibilidade e condição de acesso amplo e democrático ao espaço urbano e ao sistema de transporte;
IV – mobilidade: resultado de um conjunto de políticas públicas que visa proporcionar o acesso amplo e democrático aos espaços urbanos e rurais, por meio da priorização dos modos não motorizados e coletivos de transporte, evitando a segregação espacial e promovendo a inclusão social.
Art. 18. São diretrizes setoriais para o transporte do Distrito Federal:
I – garantir a acessibilidade universal dos usuários ao sistema de transporte coletivo; (...)
III – universalizar o atendimento, respeitando os direitos e divulgando os deveres dos usuários do sistema de transporte;
Desde os princípios do liberalismo, ainda no século XVII, os direitos políticos e privados dos indivíduos são defendidos, porém estes indivíduos eram não apenas presumidos, como explicitamente definidos como adultos, do sexo masculino e chefes de família. Dessa forma, historicamente homens se colocaram como responsáveis pela esfera pública, ou seja, econômica e política, e limitaram mulheres à vida privada, na esfera doméstica (OKIN, 2008). Quando se fala em “homem público”, por exemplo, está relacionado ao homem político, enquanto “mulher pública” se relaciona à mulher prostituída (REZZUTTI, 2018). A partir da década 1970 inúmeras teóricas e movimentos de mulheres apresentam críticas feministas às teorias e práticas urbanísticas feitas pelos homens9, uma vez que a inserção das mulheres às responsabilidades econômicas e políticas, e também nosso direito à cidade, se deram através de uma falsa política de “neutralidade de gênero”, como se bastasse “adicionar as mulheres e misturar”, ignorando a significação social da relação de poder e dependência que foi milenarmente construída entre os sexos (OKIN, 2008).
De acordo com o PDOT, o sistema de transporte está subordinado a princípios como preservação da vida e da segurança. Acessibilidade é o acesso democrático ao espaço urbano; e mobilidade, um conjunto de políticas públicas que evitam a segregação espacial e promovem a inclusão social, como são apresentados respectivamente nos incisos I, III e IV do artigo 17. No artigo 18 sobre as diretrizes para o transporte o texto trás termos como “acessibilidade universal” e “universalizar o atendimento”, e se formos comparar com o texto do Plano Diretor de Santo André que afirma em há um importante complemento que reconhece as demandas específicas das mulheres.
PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ (SP)
TÍTULO I - DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS E DOS OBJETIVOS GERAIS DA POLÍTICA URBANA E SOCIAL
Art. 8º São objetivos gerais da política urbana e social:
X - garantir a acessibilidade universal, entendida como o acesso de todos e todas a qualquer ponto do território, por intermédio da rede viária e do sistema de transporte público;
60
Art. 20. São diretrizes setoriais para o sistema viário e de circulação:
I – garantir a segurança, a fluidez e o conforto na circulação de todos os modos de transporte;
(...)
V – promover a acessibilidade de pedestres e ciclistas ao sistema de transporte;
(...)
Art. 21. São diretrizes setoriais para a mobilidade:
I – promover um conjunto de ações integradas provenientes das políticas de transporte, circulação, acessibilidade, trânsito e de desenvolvimento urbano e rural que priorize o cidadão na efetivação de seus anseios e necessidades de deslocamento;
II – proporcionar o acesso amplo e democrático ao espaço urbano, de forma segura, socialmente inclusiva e ambientalmente sustentável;
(...)
Art. 22. O Plano Diretor de Transporte, instrumento de planejamento que consolida as diretrizes para o transporte e a mobilidade no Distrito Federal, deverá conter, no mínimo:
II – a identificação da Rede Estrutural de Transporte Coletivo, mediante revisões e adequações no sistema viário, considerando a prioridade dessa modalidade e deslocamentos seguros e confortáveis de pedestres e de ciclistas;
III – a descrição de ações que garantam a acessibilidade universal ao sistema de transporte;
Em uma pesquisa de 2019 do Instituto Patrícia Galvão e Locomotiva, sobre segurança nos meios de transporte (e que será melhor apresentada no texto do Plano Diretor de Transportes Urbanos e Mobilidade, determinado pelo Art. 22), foi constatado que 97% das mulheres já foram vítimas de importunação sexual. As demandas por segurança das mulheres são maiores que as dos homens. No PDE-SP, em relação a mobilidade, são definidas ações voltadas para a segurança como melhoria na iluminação, o que não é abordado no PDOT.
PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (SP)
TÍTULO III - DA POLÍTICA E DOS SISTEMAS URBANOS E AMBIENTAIS
CAPÍTULO V - DA POLÍTICA E DO SISTEMA DE MOBILIDADE
SEÇÃO III - DO SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES
Art. 230. O Sistema de Circulação de Pedestres é definido como o conjunto de vias e estruturas físicas destinadas à circulação de pedestres.
(...)
VII - eliminar barreiras físicas que possam representar riscos à circulação do usuário, sobretudo de crianças e pessoas com mobilidade reduzida e portadoras de necessidades especiais; (...)
SEÇÃO VI - DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO E PRIVADO
Art. 245. As ações estratégicas do Sistema de Transporte Público Coletivo
V - garantir o transporte público coletivo acessível a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida;
§ 4º (...)
VI - melhorias nos passeios e espaços públicos, mobiliário urbano, iluminação pública e paisagem urbana, entre outros elementos;
61
TÍTULO II - DAS DIRETRIZES SETORIAIS PARA O TERRITÓRIO
CAPÍTULO II - DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Art. 32. O desenvolvimento econômico corresponde ao processo de mudança estrutural de uma região em que a utilização dos recursos e das potencialidades se articula com a organização eficiente e dinâmica de sistemas produtivos no território, conduzindo ao aumento da produtividade, à elevação das condições de vida da população e à redução das desigualdades sociais.
Art. 35. Nas Áreas Econômicas, serão implementadas ações que busquem:
I – urbanizar e qualificar os espaços públicos por meio da reestruturação, complementação ou implantação da infraestrutura urbana, dos equipamentos públicos e do sistema de transporte público coletivo;
II – possibilitar a implementação do uso misto e a revisão das atividades, de modo a melhorar a escala de aproveitamento da infraestrutura instalada e a relação entre oferta de empregos e moradia;
III – estimular a geração de empregos por meio de atração de investimentos privados;
IV – instituir programas de qualificação de mão de obra e capacitação gerencial;
V – incentivar a renovação de edificações e promover a integração urbanística das Áreas Econômicas aos núcleos urbanos e rurais;
VI – incentivar a oferta de serviços;
Vários dados referentes às desigualdades econômicas foram previamente apresentadas junto aos princípios do PDOT, e devem ser considerados nas diretrizes setoriais para o desenvolvimento econômico. No exemplo do município de São Paulo é previsto apoio a agricultura familiar e valorização da diversidade, inclusive cultural e étnica, demonstrando aspectos passíveis de melhoria na legislação distrital. No Distrito Federal, assim como em todo o território nacional, há população indígena (e também calunga), e esta é composta majoritariamente por mulheres, sendo elas 55,3% do total de acordo com o relatório População indígena: Um primeiro olhar sobre o fenômeno do índio urbano na Área Metropolitana de Brasília, da CODEPLAN em 2015. A urbanização de territórios colonizados como o Brasil teve a desumanização da mulher indígena como uma estratégia fundamental no processo de desapropriação e deslocamento de seus povos (KERN, 2019). Assim, acrescentar à política de desenvolvimento econômico do PDOT ações de incentivo e valorização às diversidades étnicas e culturais é uma possível estratégia para redução das desigualdades sociais a que essas pessoas estão submetidas.
PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (SP)
TÍTULO III - DA POLÍTICA E DOS SISTEMAS URBANOS E AMBIENTAIS
CAPÍTULO I - DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Art. 176. São objetivos específicos da Política de Desenvolvimento Econômico Sustentável: (...)
VI - promover o desenvolvimento sustentável da zona rural com o apoio à agricultura familiar, em especial a orgânica, e ao turismo sustentável, em especial de base comunitária; (...)
XI - valorizar a diversidade territorial, cultural, étnica, religiosa e de orientação sexual como um direito que potencializa as oportunidades de desenvolvimento econômico do Município.
62
(...)
TÍTULO II - DAS DIRETRIZES SETORIAIS PARA O TERRITÓRIO
CAPÍTULO VIII - DOS EQUIPAMENTOS REGIONAIS
Art. 52. Consideram-se equipamentos regionais os estabelecimentos em que são prestados os serviços das áreas temáticas de educação, segurança pública, saúde, transporte, abastecimento e cultura.
§ 1º Os equipamentos tratados neste capítulo foram definidos em função de sua abrangência regional, caracterizados pelo porte e especialidade e por suas implicações na definição da estrutura do território.
§ 2º Reconhecem-se como equipamentos regionais, no mínimo, os seguintes estabelecimentos, conforme área temática:
I – educação: faculdades, universidades, escolas públicas e privadas, bibliotecas, conforme o porte;
II – segurança pública: unidades da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal;
III – saúde: hospitais regionais, hospitais especializados em saúde mental e unidades de vigilância sanitária; (Inciso com a relação da Lei Complementar nº 854, de 2012.)
IV – transporte: terminais de integração, estações de transferências e aeroportos;
V – abastecimento: centrais de abastecimento, shopping centers, hipermercados e feiras;
VI – hospedagem: campings urbanos;
VII – cultura: teatros, centros culturais, casas de cultura, bibliotecas, museus e cinemas.
De acordo com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) em 2019 foram recebidas 6.431 denúncias de violência doméstica (o gráfico da violência contra mulher por RA pode ser encontrado junto ao texto da LUOS). O Distrito Federal possui centros de apoio e abrigos para vítimas de violência, mesmo que sejam poucos. No entanto, no PDOT os equipamentos desta natureza são completamente ignorados, o que não ocorre por exemplo no PDE-SP (na página seguinte), que também apresenta no texto da lei a preocupação com equipamentos de proteção às crianças e adolescentes, prevenção ao racismo, combate à homofobia e proteção da população idosa. No quadro abaixo, constam demandas referentes a equipamentos públicos apresentadas por diferentes organizações de mulheres.
Seção XII do Plano Municipal dos Direitos das Mulheres de Santo André, 1990
II. Estabelecer maior participação do poder público na socialização do trabalho doméstico, visando a facilitar a gestão da vida cotidiana com melhoria e criação de equipamentos sociais, tais como: postos de saúde, creches, refeitórios, cozinhas e lavanderias coletivas, escolas em período integral;
Diretrizes Específicas para as Mulheres sugeridas para inclusão no PDE-SP em 09/2002
g) Banheiros públicos de qualidade e gratuitos, localizados em locais centrais e periferias;
k) Fortalecimento e implementação dos espaços de amparo a mulheres vítimas da violência doméstica e sexual;
l) Aumento do número de creches e escolas integrais, como os Centros de Artes e Esportes Unificados - CEUS;
Lista de demandas da Carta das Mulheres à Cidade de Blumenau
• Criação de um sistema de equipamentos de ensino para atendimento em tempo integral para creches e escolas, articulados com espaços e programas de cultura, arte e lazer e cidadania complementares. Que os espaços educacionais sejam prioridade de investimento público nas cidades.
Fonte: SARMENTO, 2017
63
Art. 53. São diretrizes setoriais para o provimento de equipamentos
regionais no território do Distrito Federal:
I – garantir a distribuição equânime dos equipamentos no Distrito Federal, observadas as densidades demográficas e as condicionantes socioeconômicas da região em que se inserem;
II – prever prioritariamente equipamentos regionais nas áreas em processo de consolidação urbana;
PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (SP)
TÍTULO III - DA POLÍTICA E DOS SISTEMAS URBANOS E AMBIENTAIS
CAPÍTULO VIII - DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO SISTEMA DE EQUIPAMENTOS URBANOS E SOCIAIS
SEÇÃO I - DOS OBJETIVOS E DIRETRIZES DO SISTEMA DE EQUIPAMENTOS URBANOS E SOCIAIS
Art. 303. Os objetivos do Sistema de Equipamentos Urbanos e Sociais são:
I - a proteção integral à família e à pessoa, com prioridade de atendimento às famílias e grupos sociais mais vulneráveis, em especial crianças, jovens, mulheres, idosos, negros e pessoas com deficiência e pessoas em situação de rua;
(...)
SEÇÃO II - DAS AÇÕES NO SISTEMA DE EQUIPAMENTOS URBANOS E SOCIAIS
Art. 305. As ações prioritárias no Sistema de Equipamentos Urbanos e Sociais são:
(...)
(...)
III - elaborar planos setoriais de educação, saúde, esportes, assistência social e cultura;
VII - expandir a rede de Centros de Educação Infantil - CEI e a rede de Escolas Municipais de Educação Infantil - EMEI, inclusive por meio da rede conveniada e outras modalidades de parcerias;
(...)
XIV - aprimorar as políticas e a instalação de equipamentos, visando à viabilização das políticas de acolhimento e proteção às mulheres vítimas de violência;
(...)
XX - expandir as ações e equipamentos para a proteção social às crianças e adolescentes vítimas de violência e para a prevenção à violência, ao racismo e à exclusão da juventude negra e de periferia;
XXI - expandir e requalificar equipamentos voltados ao atendimento de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, inclusive à formação de professores e o acompanhamento aos alunos com deficiência e mobilidade reduzida matriculados na Rede Municipal de Ensino;
XXII - implantar as ações e equipamentos previstos para o combate à homofobia e respeito à diversidade sexual;
XXIII - implantar ações e equipamentos destinados à população idosa;
XXIV - aprimorar as políticas e a instalação de equipamentos, visando à viabilização das políticas de inclusão e acolhimento das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida;
XXV - expandir a rede de Centros de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional.
64
TÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES INTRODUTÓRIAS
A Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal estabelece para todas as áreas urbanas do território que não integram o Conjunto Urbanístico de Brasília (que compõe o tombamento patrimonial) parâmetros mais específicos do que aqueles apresentados no PDOT. Abrange 24 Regiões Administrativas que estão descritas no Art. 2º, e estipula as unidades de ocupação do solo (UOS) e designando as diretrizes de uso para cada uma. Aborda uma multiplicidade de questões do planejamento urbano, desde permeabilidade dos lotes, gabaritos, até aos tipos de uso e equipamentos públicos.
Art. 1º Esta Lei Complementar, denominada Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal - LUOS, estabelece os critérios e os parâmetros de uso e ocupação do solo para lotes e projeções localizados na Macrozona Urbana do Distrito Federal nos parcelamentos urbanos:

I - registrados em cartório de registro de imóveis competente;
II - implantados e aprovados pelo poder público.
§ 1º A LUOS é o instrumento complementar das políticas de ordenamento territorial e de expansão e desenvolvimento urbano do Distrito Federal.
§ 2º Excluem-se das disposições desta Lei Complementar:
I - a Macrozona Rural;
II - a Macrozona de Proteção Integral.
§ 3º As áreas abrangidas pela Zona Urbana do Conjunto Tombado têm critérios e parâmetros de uso e ocupação do solo estabelecidos pelo Plano de Preservação do Conjunto Urbano - PPCUB.
65
LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DO DISTRITO FEDERAL LEI COMPLEMENTAR Nº 948, de 16/01/2019
Fonte: Memória Técnica - Lei de Uso e Ocupação do Solo
Abrangência da LUOS
TÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
CAPÍTULO II - DOS PRINCÍPIOS
Art. 3º São princípios estruturadores da LUOS:
I - a garantia da função social da propriedade urbana;
II - a justa distribuição de benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização; (...)
IV - o desenvolvimento urbano sustentável, a partir da convergência das dimensões social, econômica e ambiental, com reconhecimento do direito à cidade para todos; (...)
X - a prevalência do interesse coletivo sobre o individual;
XI - a gestão democrática da cidade com inclusão e participação social.
Os dados de violência contra mulheres no Distrito Federal são alarmantes e os princípios da LUOS devem considerá-los. Entre os objetivos do sistema de equipamentos urbanos e sociais devem estar presentes o aprimoramento e instalação de equipamentos que viabilizem as políticas de acolhimento e proteção às mulheres, crianças e adolescentes, idosos, população LGBT e juventude negra e periférica e pessoas com deficiência.
Os equipamentos, sobretudo aqueles de uso cotidiano como as creches, devem possuir prioridade para serem alocados próximos aos trajetos mais percorridos pela população, afim de reduzir os deslocamentos.
TÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
CAPÍTULO II - DOS PRINCÍPIOS
Art. 4º São objetivos da LUOS:
I - propiciar a descentralização da oferta de emprego e serviços, de habitação e dos equipamentos de educação, saúde e lazer;
II - aumentar a diversidade de usos e atividades para promover a dinâmica urbana e a redução de deslocamentos;
Ceilândia 2.727 Brasília 1.745
Sobradinho 1.157
Recanto das Emas 981
Taguatinga 944
Águas Claras 908
Gama 902
Santa Maria 826
São Sebastião 751
Paranoá 693
Recanto das Emas 645
Guará 520
Brazlândia 407
Núcleo Bandeirante 318
Demais regiões 51 Lagos e represas
Fonte: Ensaio teórico: Mulheres que andam nos trilhos, 2020.
66
Mapa da violência contra a mulher. Inquéritos policiais e termos circunstanciados recebidos pelo MPDFT em 2019
Samambaia 1.341 Planaltina 1.275
Ceilândia
Taguatinga Samambaia Gama Santa Maria
São Sebastião
Paranoá
Planaltina Guará
Brasília
Sobradinho Brazlândia
R. das Emas Riacho Fundo
Águas Claras Núcleo Band
TÍTULO II - DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
CAPÍTULO I - DOS PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO DO SOLOAS UNIDADES DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
Art. 5º O uso do solo nos lotes e nas projeções abrangidos por esta Lei Complementar é indicado por unidades de uso e ocupação do solo - UOS no Anexo II.
§ 1º São categorias de UOS:

I - UOS RE - Residencial Exclusivo, onde é permitido o uso exclusivamente residencial e que apresenta 3 subcategorias:
a) RE 1 - onde é permitido exclusivamente o uso residencial, na categoria habitação unifamiliar;
b) RE 2 - onde é permitido exclusivamente o uso residencial, na categoria habitação unifamiliar ou habitação multifamiliar em tipologia de casas;
c) RE 3 - onde é permitido exclusivamente o uso residencial, na categoria habitação multifamiliar em tipologia de apartamentos ou habitação multifamiliar em tipologia de casas combinada ou não com a tipologia de apartamentos;
II - UOS RO - Residencial Obrigatório, onde o uso residencial é obrigatório, sendo facultado o uso não residencial simultâneo, e que apresenta 2 subcategorias:
a) RO 1 - onde é obrigatório o uso residencial, na categoria habitação unifamiliar, sendo facultado, simultaneamente, o uso não residencial com atividade econômica realizada no âmbito doméstico, não sendo autorizado o acesso independente;
b) RO 2 - localiza-se ao longo de vias de conexão
São determinadas ao todo 21 categorias de UOS, todas descritas pelo Art. 5º. É possível observar na tabela sobre Uso Institucional, na parte referente à educação, que as unidades de uso Residencial Exclusivo (em tons de verde), por exemplo, não autorizam sequer a presença de educação infantil como creches ou pré-escolas. Na página seguinte é possível observar o mapa de uso do solo de Ceilândia e Lago Sul. Em Ceilândia a existência de creches e pré-escolas é permitida amplamente no território da RA. Em contrapartida, no Lago Sul estas podem estar presentes apenas nas esparças regiões comerciais em azul claro, e comerciais e de serviço em vermelho ou rosa. Assim, mesmo que exista uma creche próxima à sua residência, se uma mulher moradora de Ceilândia, com filho pequeno, trabalha no Lago Sul e precisa pegar transporte público às 5am, dependeria de outra pessoa para deixar a criança na creche ou pré-escola e em caso de emergências com a criança, estaria a horas de distância. Creches e pré-escolas devem estar posicionadas próximas ao trabalho das mães, e esta questão concerne ao planejamento urbano e imprescindível para combater a desigualdade entre sexos no mercado de trabalho.
67
ANEXO I - TABELA DE USOS E ATIVIDADES - LUOS DF USO INSTITUCIONAL
entre conjuntos e quadras, onde é obrigatório o uso residencial, na categoria habitação unifamiliar, sendo facultado, simultaneamente, o uso não residencial exclusivamente no pavimento diretamente aberto para logradouro público e independente da habitação;
III - UOS CSIIR - Comercial, Prestação de Serviços, Institucional, Industrial e Residencial, onde são obrigatórios os usos comercial, prestação de serviços, institucional e industrial, simultaneamente ou não, e admitido o uso residencial desde que este não ocorra voltado para o logradouro público no nível de circulação de pedestres, e que apresenta 3 subcategorias:
a) CSIIR 1 - localiza-se nas áreas internas dos núcleos urbanos, próxima a áreas habitacionais, e possui abrangência local;
b) CSIIR 2 - localiza-se em áreas de maior acessibilidade dos núcleos urbanos, em vias de atividades, centros e subcentros;


c) CSIIR 3 - localiza-se, principalmente, nas bordas dos núcleos urbanos ou próxima a áreas industriais e ocorre em articulação com rodovias que definem a malha rodoviária principal do Distrito Federal, sendo de abrangência regional;
IV - UOS CSIIR NO - Comercial, Prestação de Serviços, Institucional, Industrial e Residencial Não Obrigatório, onde são permitidos, simultaneamente ou não, os usos comercial, prestação de serviços, institucional, industrial e residencial, nas categorias habitação unifamiliar ou habitação multifamiliar em tipologia de casas ou habitação multifamiliar em tipologia de apartamentos (...)
a) CSIIR 1 NO - localiza-se nas áreas internas dos núcleos urbanos, próxima a áreas habitacionais, e possui abrangência local;
68
ANEXO IMAPA 3A USO DO SOLO CEILÂNDIA
ANEXO IMAPA 8A USO DO SOLO LAGO SUL
b) CSIIR 2 NO - localiza-se em áreas de maior acessibilidade dos núcleos urbanos, em vias de atividades, centros e subcentros;
V - UOS CSII - Comercial, Prestação de Serviços, Institucional e Industrial, onde são permitidos, simultaneamente ou não, os usos comercial, prestação de serviços, institucional e industrial, sendo proibido o uso residencial, e que apresenta 3 subcategorias:
a) CSII 1 - localiza-se em áreas internas aos núcleos urbanos, próxima a áreas habitacionais, com características de abrangência local;
b) CSII 2 - localiza-se em áreas de maior acessibilidade dos núcleos urbanos, em vias de atividades, centros e subcentros;
c) CSII 3 - localiza-se, principalmente, nas bordas dos núcleos urbanos ou próxima a áreas industriais, situada em articulação com rodovias que definem a malha rodoviária do Distrito Federal, sendo de abrangência regional;
VI - UOS CSIInd - Comercial, Prestação de Serviços, Institucional e Industrial, onde são permitidos, simultaneamente ou não, os usos comercial, prestação de serviços, institucional e industrial, localizada nas áreas industriais e de oficinas, sendo proibido o uso residencial (...).
VII - UOS CSIIndR - Comercial, Prestação de Serviços, Institucional, Industrial, Residencial, onde são permitidos, simultaneamente ou não, os usos comercial, prestação de serviços, institucional e industrial, localizada nas áreas industriais e de oficinas, em lotes de menor porte, sendo facultado o uso residencial, exclusivamente nos pavimentes superiores, e condicionado à existência de uso não residencial;
VIII - UOS Inst - Institucional, onde é permitido exclusivamente o uso institucional público ou
Já existem no Distrito Federal distintos equipamentos voltados ao acolhimento das mulheres vítimas de violência. No entanto, os equipamentos desta natureza não são citados na tabela de Equipamentos de Uso Institucional. Como é possível observar no trecho da tabela na página seguinte, que aborda atividades de assistência social em residências coletivas, os abrigos para mulheres (a Casa da Mulher Brasileira) não constam (a Tabela foi removida diretamente do PDF da Lei, e não possui boa qualidade gráfica).
Abrigos - Unidades de Acolhimento para Mulheres
Centros de Atenção Psicossocial - Casa de Apoio à mulher
69
Fonte: Modulo Lótus -Projeto de Intervenção e Requalificação Funcional da Casa da Mulher Brasileira
Planaltina Paranoá São Sebastião Santa Maria Gama Recanto das Emas Samambaia Ceilândia Taguatinga Riacho Fundo Nucle Bandeirante Guara Brazlandia Sobradinho Plano Piloto Planaltina Paranoá São Santa Maria Gama Samambaia Riacho Sobradinho Plano Piloto
privado;
IX - UOS Inst EP - Institucional Equipamento Público, onde são desenvolvidas atividades inerentes às políticas públicas setoriais, constituindo lote de propriedade do poder público que abrigue, de forma simultânea ou não, equipamentos urbanos ou comunitários;
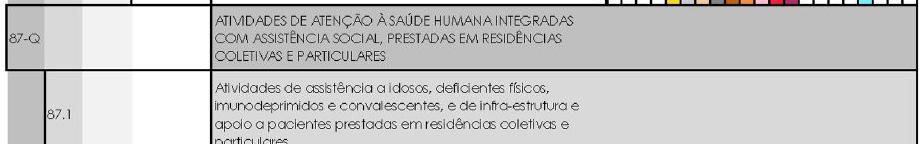
X - UOS PAC - Posto de Abastecimento de Combustíveis, onde são obrigatórias as atividades de comércio varejista de combustíveis e lubrificantes e são permitidas outras atividades comerciais e de prestação de serviços (...).
ANEXO I - TABELA DE USOS E ATIVIDADES - LUOS DF USO INSTITUCIONAL

70
Pelos dados do MPDFT de 2019, naquele ano foram registrados 16.191 denúncias de violência contra mulher, das quais 27 foram casos de feminicídio, em que as vítimas perderam suas vidas. Temos por exemplo na região Nordeste do DF, em Sobradinho e Planaltina, dados de violência contra mulher expressivos, e mesmo que conste um Centro de Atenção Psicossocial, não há abrigos próximos àquela região. A política urbana precisa voltar sua atenção a estas questões para se certificar se as demandas estão sendo cumpridas, ou se é preciso implementar novos equipamentos. A segurança, acolhimento e proteção de mulheres e demais grupos socialmente vulnerabilizados não são pautas secundárias, e estes equipamentos devem vir expressamente descritos e previstos na legislação.
Além disso, implantar equipamentos voltados aos cuidados da população idosa, e melhorar a distribuição de creches e pré-escolas, e implantação de equipamentos que socializem atividades domésticas, como refeitórios e lavanderias coletivas, são ações que além de tudo promovem oportunidade de mais mulheres adentrarem o mercado de trabalho.
Evolução do tempo médio dedicado aos afazeres domésticos por pessoas economicamente ativas, por sexo e tipo de família. Brasil, 2002-2012.
Casal com todos os filhos menores de 14 anos.
Casal com filhos menores de 14 anos e de 14 anos ou mais.
Casal sem filhos.
Casal com todos os filhos de 14 anos ou mais.
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, 2002-2012.
71
0 5 10 15 20 25 30 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2011 2012 Tempo médio dedicado aos afazeres domésticos (horas/semana)
M H
PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE URBANO E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL
Os planos diretores de transporte urbano são determinados como obrigatórios em cidades com mais de quinhentos mil habitantes, de acordo com o Art. 41, § 2º, do Estatuto da Cidade. No caso do Distrito Federal, essa legislação é o PDTU, vigente desde maio de 2011. Entre os objetivos do plano, está a melhoria da qualidade de vida da população pela disponibilização de serviço de transporte público confiável e seguro.
SEÇÃO I - ATOS DO PODER EXECUTIVO
CAPÍTULO I - DOS OBJETIVOS GERAIS DO PLANO
Art. 1º Regem-se por esta Lei as normas gerais básicas para implementação do Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade do Distrito Federal – PDTU/DF, em consonância com o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT e com o Estatuto das Cidades.
Art. 2º O PDTU/DF fundamenta-se na articulação dos vários modos de transporte com a finalidade de atender às exigências de deslocamento da população, buscando a eficiência geral do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – STPC/ DF e garantindo condições adequadas de mobilidade para os usuários, cumprindo os seguintes objetivos:
I – melhoria da qualidade de vida da população, mediante a disponibilização de serviço de transporte público regular, confiável e seguro, que permita a mobilidade sustentável e acessibilidade para realização das atividades que a vida moderna impõe; (...)
O Instituto Patrícia Galvão e Locomotiva realizou em 2019 uma pesquisa em que 1.081 mulheres de várias localidades brasileiras foram entrevistadas sobre sua segurança nos meios de transportes e foi constatado que 97% das mulheres já foram vítimas de assédio (atualmente tipificado como importunação sexual pela Lei Federal Nº 13.718/2018). Em relação ao transporte público, os dados obtidos podem ser observados na tabela ao lado. As mulheres brasileiras não têm seu direito à segurança no transporte público garantido.
No caso específico do Distrito Federal, um exemplo para melhorar a segurança das mulheres foi a criação da Lei Distrital nº 4.848/2012, atulizada em 1º de julho de 2013, determinou a criação do Vagão exclusivo para mulheres e pessoas Fonte: Segurança das Mulheres no Transporte. IPG e Locomotiva, 2019.

72
(...)
LEI Nº 4.566, de 04/05/2011
% Situações pelas quais mulheres já passaram em meios de transporte
Parágrafo único. Para fins desta Lei, considera-se:
I – mobilidade urbana sustentável: o resultado de um conjunto de políticas de transporte e circulação que visem proporcionar o acesso amplo e democrático ao espaço urbano e rural, priorizando os modos de transporte coletivo e não motorizados de forma efetiva, socialmente inclusiva e ecologicamente sustentável;
II – acessibilidade: a humanização dos espaços públicos e dos serviços de transporte, estabelecendo-se condições para que sejam utilizados com segurança, equidade, economia e autonomia total ou assistida.
CAPÍTULO II - DAS DIRETRIZES DO PLANO
Art. 4º. São diretrizes do PDTU/DF: (...)
V – implantação, recuperação e adaptação de infraestrutura de transporte voltada a atender às necessidades de melhoria da acessibilidade, da informação ao público e da mobilidade dos usuários;
Segundo Vóila B. Cassar assédio é o termo utilizado para designar toda conduta que cause constrangimento psicológico ou físico à pessoa. A partir dessa definição, você:
- Já se sentiu assediada no trajeto até o metrô
- Já se sentiu assediada no interior do metrô ou estações Já se sentiu assediada em ambos Não se sentiu assediada em
Especificamente sobre assédio verbal, você:
- Já foi verbalmente assediada no trajeto até o metrô - Já foi verbalmente assediada no interior do metrô ou estações
com deficiência como uma medida paleativa para melhorar a segurança das usuárias deste modal em específico. No ensaio teórico Mulheres que andam nos trilhos: traçado urbano e segurança das mulheres usuárias do Metrô-DF foram entrevistadas 90 mulheres entre os meses de setembro e outubro de 2020 acerca destas questões, sendo graves os resultados obtidos, e compatíveis com a pesquisa anterior. Ao todo, 63,4% afirmaram já terem se sentido assediadas no interior do metrô ou estações, e em relação a esta violência agravada por intervenções físicas, 15,5% afirmaram já tê-la sofrido. Assim, o objetivo da segurança não está efetivado, o que prejudica a acessibilidade do transporte público para as mulheres.
Quando o plano apresenta diretrizes como a implantação e adaptação da infraestrutura para atender as necessidades de melhoria da acessibilidade, precisa levar em conta adaptações e soluções criativas para garantir segurança das usuárias.
Fonte: Ensaio teórico: Mulheres que andam nos trilhos, 2020.
Referente à adaptação e implantação da informação ao público, a questão da importunação sexual
73
nenhum 55,6% 14,4% 22,2% 7,8%
Não foi verbalmente assedia-
em nenhum 43,3% 4,4% 21,1% 31,1% Em relação a assédios com intervenções físicas, como puxarem seu braço, te apalparem ou violências semelhantes, você: 81,1% 4,4% 4,4% 11,1%
sempre
Às es Raramente Não vez 76,1% 19,4% 1,5% 3% Você usa o vagão exclusivo para mulheres?
Já foi verbalmente assediada em ambos
da
Sim,
que estou sozinha ou com outras mulheres.
POSSÍVEIS REVISÕES:
SEÇÃO I - CAPÍTULO I
Art. 2º, Paragráfo único
I – melhoria da qualidade de vida da população, mediante a disponibilização de serviço de transporte público regular, confiável e seguro, que permita a mobilidade sustentável e acessibilidade para realização das atividades que a vida moderna impõe [acrescentar:], considerando-se todas as demandas específicas para mulheres, idosos, crianças, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
CAPÍTULO II
Art. 4º
V – implantação, recuperação e adaptação de infraestrutura de transporte voltada a atender às necessidades de melhoria da acessibilidade, da informação ao público e da mobilidade dos usuários [acrescentar:], sobretudo de pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, mulheres, idosos e crianças, (...)
[Novo inciso] - Incluir na infraestrutura de informação ao público informações de combate à importunação sexual adequadas à Lei Distrital Nº 6.560/2020 que dispõe sobre o protocolo de segurança no Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal voltado ao enfrentamento da violência contra a mulher.
também deve ser considerada. O Governo do Distrito Federal sancionou a Lei Nº 6.560/2020 que além de obrigar os funcionários do Sistema de Transporte Público Coletivo a acionarem a polícia caso presenciem situações de violência contra mulher, e a polícia e Conselho Tutelar se as vítimas forem crianças ou adolescentes, indica diretrizes como atividades educativas e pedagógicas em caráter permanente para formação dos servidores e para conscientização da população. O sistema de transportes é público, o corpo das mulheres que o utilizam, não. Os objetivos e diretrizes do PDTU precisam demonstrar o comprometimento desta legislação pela garantia da segurança e acessibilidade das mulheres que a utilizam.
As referências abaixo apresentam diversas demandas específicas às mulheres que são aplicáveis a distintas localidades, e das quais algumas também são necessárias no caso do Distrito Federal.
Diretrizes Específicas para as Mulheres sugeridas para inclusão no PDE-SP em 09/2002
f) Relocação dos pontos de ônibus em lugares ermos, pois favorecem o estupro das mulheres;
i) Criação de itinerários interbairros, que passem pelas creches, escolas, unidades básicas de saúde e comércio;
Lista de demandas da Carta das Mulheres à Cidade de Blumenau
c) Mobilidade e acesso à cidade para as mulheres
• Criar sistema de transporte público que garanta mais horários para atividade da reprodução e mais segurança para idosos e crianças.
• Ampliar a disponibilidade de horários de ônibus, criando um sistema pautado nas diversas demandas das cidades e levando-se em consideração a condição dos usuários, como, por exemplo, criar linhas exclusivas para estudantes, linha para interligar os equipamentos de saúde, ampliar os horários durante o final de semana para estimular os passeios e sociabilização.
• Disponibilizar os pontos de ônibus em locais iluminados e próximos de vitalidade. Permitir descida em qualquer lugar da cidade após as 20h apenas para as mulheres.
Fonte: SARMENTO, 2017
74
CAPÍTULO V - DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO
Art. 10º. O transporte público coletivo é serviço público essencial, cuja organização e prestação competem ao Distrito Federal, conforme art. 335, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o art. 30, V, e art. 32, § 1º, da Constituição Federal.
Art. 11. O sistema de transporte coletivo deve ser planejado, coordenado e operado, assegurando aos cidadãos o acesso universal, seguro e equânime ao espaço urbano e rural.
(...)
Art. 18. A rede de terminais deverá ser remodelada de forma a se adequar ao modelo operacional integrado, devendo possuir:
(...)
III – características físicas e operacionais que facilitem o transbordo dos usuários, com menor distância a ser percorrida entre o embarque e o desembarque, em condições de segurança, proteção e acessibilidade universal;
IV – sistema viário de acesso aos terminais de integração e pontos de parada dotado de condições seguras de circulação e conforto, priorizando-se as demandas das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
No Capítulo V, Art. 11 é determinado que o transporte público deve garantir acesso universal, seguro e equânime ao espaço urbano e rural. Também determina que o sistema de acesso aos terminais de integração e pontos de parada sejam dotados de condições seguras de circulação e conforto. Cita-se a necessidade de priorização das demandas das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, o que inclui também população idosa, mas mulheres são deixadas de lado. Quando observamos a alocação de certos terminais e pontos são nítidas para as mulheres as barreiras que as impedem desfrutar esse acesso universal, mesmo que para homens elas não existam.

DEPOIMENTOS - usuárias Metrô - DF
“Locais que evito: (...) quando vou de metrô - Estação Ceilândia Norte;”


“Deixo de ir a pé para a estação Ceilândia Norte por medo. Na volta faço o percurso, pois sempre há outras pessoas indo na mesma direção. (...) Quando a creche está funcionando me sinto um pouco menos insegura.”
Fonte: Ensaio teórico: Mulheres que andam nos trilhos, 2020.
É preciso ouvir as mulheres para compreender suas demandas. Por exemplo, usuárias da Estação Ceilândia Norte que circulam no sentido Av. Oeste denunciam a sensação de insegurança, muito comum em lugares ermos, sobretudo em horários de pouca circulação.
75
Fonte: Google Earth Pro, acesso no dia 11/04/2021. Data da imagem de satélite 18/01/2018.
Estação Ceilândia Norte
Estação Ceilândia Norte
Fonte: Google Street View, acesso no dia 10/04/2021. Data das imagens 06/2019.
Estação Ceilândia Norte Creche
Creche
POSSÍVEIS REVISÕES:
SEÇÃO I - CAPÍTULO V
Art. 18º,

IV – sistema viário de acesso aos terminais de integração e pontos de parada dotado de condições seguras de circulação e conforto, priorizando-se as demandas das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida [acrescentar:] sobretudo àquelas específicas às mulheres, (...)
Fonte: http://www.samambaiaempauta.com.br/2019
DEPOIMENTOS - usuárias Metrô - DF
“Ao sair da UnB, precisava pegar um ônibus até a rodoviária para ter acesso ao metrô (em horários de pico onde o 110 fica lotado nas entradas norte e sul do ICC), eu me sentia insegura se precisasse subir até a L2 norte em busca de um ônibus mais vazio. (...)”
“A parada perto de casa na qual eu as vezes desço é bem escura e sem movimento. Muitas vezes desço na parada depois por ser mais movimentada. Ando mais, mas me sinto mais segura.”
Fonte: Ensaio teórico: Mulheres que andam nos trilhos, 2020.
A alocação de pontos de ônibus em lugares sem vivacidade favorecem a insegurança de todas as pessoas que fazem uso deles, e as mulheres, principalmente aquelas com deficiência, mobilidade reduzida, idosas ou crianças são as mais afetadas. Existem inúmeros pontos ou paradas de ônibus e também estações que não possuem circulação segura até o acesso, ou condições seguras de se estar. Quando não é possível realocar pontos ou acessos para lugares de maior circulação, deve-se procurar formas de incentivar atividades o mais diversificadas o possível, e de horários também diversos de funcionamento, próximas a elas.

76
[Novo inciso] - Alocação de pontos e paradas de ônibus em lugares de maior vivacidade e iluminação.
Fonte: Google Street View, acesso no dia 10/04/2021. Data das imagens 2021.
Ponto de ônibus UnB
CAPÍTULO VI - DO TRANSPORTE NÃO MOTORIZADO
Art. 20º. O transporte não motorizado, realizado a pé ou por bicicletas e, eventualmente, por outros veículos de propulsão humana deve ser incentivado para uso nas atividades diárias, por intermédio de diferentes ações:
I – criação e adequação de espaço viário seguro e confortável para o pedestre, o ciclista e a pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida;
(...)
Art. 23º. O PDTU/DF apresenta os seguintes fundamentos para os pedestres:
I – requalificar e padronizar os espaços públicos de calçadas, passeios, travessias e pontos de parada, mantendo-os livres e acessíveis, destinando-os ao uso primordial pelos usuários e respeitando seus desejos de deslocamento, de acesso, de espera pelo transporte coletivo e de permanência;
II – definir áreas prioritárias para implantação de calçadas e travessias, observando-se normas técnicas de acessibilidade;
III – tratar locais críticos para pedestres, com medidas moderadoras de tráfego voltadas à redução e velocidade dos veículos e à melhoria ambiental do espaço urbano;
IV – implantar passarelas, semáforos de pedestres ou faixas de pedestres;
V – lançar programas educativos voltados à segurança de pedestres.
Nos resultados obtidos no ensaio teórico Mulheres que andam nos trilhos previamente apresentados, 91,1% das mulheres afirmaram se sentir inseguras em seus trajetos a pé, 86,7% fazem desvios em seus trajetos. Também, 75,4% já foram vítimas de importunação sexual verbal e 8,8% de importunação sexual com interferências físicas, também nos caminhos que cotidianamente percorrem a pé. Urge que o planejamento da mobilidade para as pedestres tenha como fundamento garantir ao máximo a segurança da parcela feminina da população. As diretrizes e demandas apresentadas abaixo, elaboradas por mulheres em coletividade tanto no município de São Paulo quanto de Blumenau trazem luz sobre aspectos importantes a serem considerados nos fundamentos para pedestres do PDTU/DF.
Diretrizes Específicas para as Mulheres sugeridas para inclusão no PDE-SP em 09/2002
e) Garantir a aplicação de normas que garantam a acessibilidade aos edifícios e levem à diminuição das barreiras arquitetônicas, promovendo o rebaixamento de guias para locomoção dos carrinhos de bebês, de feira, etc.;
j) Garantir a aplicação de normas para diminuir as barreiras arquitetônicas de edifícios e espaços públicos, qualificar os passeios com rebaixamento da via para acesso de carrinhos de bebês, cadeirante, idosos;
m) Iluminação pública como estratégia para garantir segurança; Lista de demandas da Carta das Mulheres à Cidade de Blumenau
c) Mobilidade e acesso à cidade para as mulheres
• Ter um plano de arborização e calçadas que dêem condições de caminhabilidade para todos, inclusive mulheres gestantes, carrinhos de bebê, idosos, cadeirantes, deficientes visuais, e pessoas com mobilidade reduzida.
• Dar prioridade para implantação do sistema de ciclovias. A bicicleta representa um forte aliado à mobilidade para execução de todas as tarefas cotidianas, ligadas à reprodução e à produção, mas para as mulheres torna-se ainda mais especial, devido à possibilidade de se locomover com maior agilidade e autonomia.
Fonte: SARMENTO, 2017
77
PLANO DISTRITAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
CAPÍTULO I - PROPOSTA METODOLÓGICA
O PLANDHIS é um documento que busca compatibilizar as diversas iniciativas habitacionais em torno de um Sistema Distrital de Habitação, para enfrentamento do déficit habitacional. Segue as diretrizes da Política Nacional da Habitação, estabelecidas pela Lei Federal nº 11.124 de 2005, que cria o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. A regularização fundiária tanto rural quanto urbana se dá através da Lei Federal Nº 13.465 de 2017. No Título II da lei, que diz respeito a Regularização Urbana, é descrito no Artigo 10, inciso XI, que entre os objetivos da Reurb consta conceder direitos reais preferencialmente em nome da mulher. Vale nota que no Título I, da Regularização Rural, cabe ao Incra ordenar a classificação das candidatas seguindo critérios que são primeiramente família mais numerosa de membros exercendo atividade agrícola na área do assentamento, em seguida família que resida a mais tempo, e em terceiro no grau de prioridade constam as famílias chefiadas por mulheres.
2.2. EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DAS OFICINAS REGIONAIS
A Equipe de Organização das Oficinas Regionais é responsável pelo planejamento e dimensionamento dos recursos e equipamentos necessários para apresentação dos eventos, executando os seguintes serviços:
A participação das mulheres, principalmente mães, deve ser assegurada em todos os processos participativos de elaboração das legislações urbanas, inclusive no que tange a habitação de interesse social. Para isso, entre a infraestrutura das oficinas devem conter espaço para crianças, assim aquelas mães que não tem com quem deixar seus filhos não são excluídas da vida política. Além disso, é importante se observar os horários e localização dos encontros em razão da facilidade de acesso e segurança.
•Assegurar a infraestrutura dos eventos:
•Som;
•Coffee-Breaker;
•Espaço físico;
•Equipamentos de som, luz e audiovisual.
Seção XII do Plano Municipal dos Direitos das Mulheres de Santo André, 1990.
V. Assegurar a participação das mulheres na elaboração, acompanhamento e gestão dos programas e equipamentos públicos.
Lista de demandas da Carta das Mulheres à Cidade de Blumenau
a) Sobre a participação da mulher na cidade
Estimular e criar condições para que as mulheres participem das discussões sobre a cidade, facilitando os horários, realizando os encontros em locais descentralizados, disponibilizando o espaço para as crianças poderem acompanhar as mães que não tem com quem deixar seus filhos durante as atividades.
Fonte: SARMENTO, 2017
78
(...)
2. AS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DA EQUIPE
(...)
CAPÍTULO I - PROPOSTA METODOLÓGICA
3. PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DAS ETAPAS E PRODUTOS
ETAPA 2 - DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL
•Aspectos econômicos e sociais
• Renda per capita
• Porcentagem de famílias com:
Grupo I: Sem renda ou com renda abaixo da linha de financiamento da necessidade mínima
Grupo II: Com valor de renda insuficiente para moradias adequada com alto risco de crédito
Grupo III: Com renda insuficiente para moradia adequada com moderado risco de crédito
Grupo IV: Com valor suficiente para acessar moradia adequada (perfil do FGTS)
Grupo V: Com plena capacidade por financiamento de mercado.
• Concentração econômica
• Crescimento, composição e valor do PIB
• Emprego
• Taxa de desemprego
• Analfabetismo
A legislação federal fundiária já considera em seu texto as desigualdades que assolam as mulheres, portanto o plano distrital deve estar alinhado a esta diretriz. No que diz respeito ao diagnóstico da situação habitacional de interesse social, questões como o sexo dos chefes de família ou indivíduos cadastrados, e também o número de dependentes não constam entre os dados a serem levantados. Na Caracterização do Distrito Federal o próprio documento apresenta o gráfico abaixo, onde constam dados do Censo de 2010 e é apresentado que mulheres são maioria da população geral e também maioria na área urbana. Ainda assim a questão de gênero não é desenvolvida nem abordada em nenhum momento.

Seção XII do Plano Municipal dos Direitos das Mulheres de Santo André, 1990.
IV. Estabelecer normas para a formação de um banco de dados sobre a mulher no município, objetivando inventariar a situação da mulher;
Fonte: SARMENTO, 2017
79
(...)
(...)
GRÁFICO - POPULAÇÃO RESIDENTE DO DF POR SEXO - PLANDHIS
CAPÍTULO I - PROPOSTA METODOLÓGICA
4. ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO
O Conselho Gestor do FUNDHIS é constituído de representantes de diversos segmentos sociais, são eles: Poder Público Distrital; Movimentos Populares da Área de Habitação; Empresários e Trabalhadores; tem, portanto, o Conselho Gestor a seguinte composição:
1. Secretário de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano – SEDHAB;
2. Presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB;
3. Presidente da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP;
4. Presidente do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental – IBRAM;
5. Secretário de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda;
6. Secretário de Estado de Fazenda;
7. Quatro representantes de entidades e movimentos populares que atuam no segmento habitacional;
8. Um representante da área empresarial com atuação no setor de promoção e/ou produção de habitações;
9. Um representante de entidades de trabalhadores.
As mulheres possuem preferências nos processos de regularização fundiária, medida que visa minimizar a milenar desigualdade entre sexos, e possuem demandas específicas. Para garantir que estas questões sejam devidamente abordadas e consideradas, o Conselho Gestor do FUNDHIS deveria ter entre seus representantes dos segmentos sociais ao menos duas entidades ou movimentos populares de mulheres, com ao menos um deles direcionado às necessidades particulares às mães.
Diretrizes Específicas para as Mulheres sugeridas para inclusão no PDE-SP em 09/2002
a) Priorizar programas habitacionais com subsídios para mulheres que chefiam as famílias;
b) Garantir que o título da propriedade ou de concessão real de uso seja feito em nome da mulher;
Lista de demandas da Carta das Mulheres à Cidade de Blumenau
e) Habitação
• Atender com urgência a falta de segurança vivida pelas famílias dos condomínios residenciais do Programa “Minha Casa Minha Vida” e moradores de áreas de risco, pois essa condição de vulnerabilidade afeta diretamente a vida de todos, mas, em especial, a vida das mulheres, por serem, em sua maioria, responsáveis pela administração do cotidiano e do sustento de suas famílias.
• Garantir e ouvir as mulheres moradoras das áreas de risco e conjuntos habitacionais para elaboração das políticas públicas habitacionais, assim como tornar os projetos habitacionais participativos.
Fonte: SARMENTO, 2017
80
(...)
PLANO DE PRESERVAÇÃO DO CONJUNTO URBANÍSTICO DE BRASÍLIA
PROPOSTA DE MINUTA PLC PPCUB (2017)
TÍTULO I - DO OBJETO DE TOMBAMENTO
CAPÍTULO I - DO CONJUNTO URBANÍSTICO DE BRASÍLIA
SEÇÃO II - DOS ATRIBUTOS DO CONJUNTO URBANÍSTICO DE BRASÍLIA
Art. 5º Constituem atributos do CUB:
I – a interação das quatro escalas urbanas: a monumental, a residencial, a gregária e a bucólica no Conjunto Urbanístico de Brasília;
II – a estrutura viária como arcabouço integrador das várias escalas urbanas;
III – o sentido de unidade e de ordenação, bem como a setorização por funções do espaço urbano;
IV – o conjunto urbanístico do Eixo Monumental;
V – as superquadras e o conceito de unidade de vizinhança;
VI – a cidade-parque com os seus espaços abertos e a importância da estrutura verde urbana, como pressupostos do seu partido urbanístico; (...)
Ao se falar no Conjunto Urbanístico de Brasília (CUB) é preciso compreender as quatro escalas urbanas pensadas por Lúcio Costa. A Escala Monumental é a escala simbólica e coletiva que concentra os espaços cívico-administrativos e culturais, e que confere a marca de Capital do País. A Escala Residencial é estruturada pela sequência de superquadras, entrequadras e comércios locais, constituindo as unidades de vizinhança. A Escala Gregária corresponde ao centro urbano com espaços propícios aos encontros, diversidade de usos, liberdade na volumetria, edificações de alturas mais elevadas e maior densidade de ocupação. A Escala Bucólica constitui a base territorial na qual a cidade se assenta, compreendendo áreas livres, com cobertura vegetal, destinadas à preservação ambiental, paisagismo e ao lazer, e confere à Brasília o caráter de cidade-parque.

81
Escalas Urbanas do CUB
Fonte: Apresentação PPCUB, SEDUH DF, 2017.
TÍTULO II - DO PLANO DE PRESERVAÇÃO DO CONJUNTO URBANÍSTICO DE BRASÍLIA
CAPÍTULO III - DOS PRINCÍPIOS DO PLANO
Art. 16. O PPCUB rege-se pelos seguintes princípios: (...)
VI – garantia de acessibilidade ao pedestre e de mobilidade para a população do CUB compatíveis com a especificidade do sítio urbano tombado; (...)
CAPÍTULO V - DAS DIRETRIZES GERAIS
Art. 18. São diretrizes gerais do PPCUB: (...)
V – requalificação de áreas de interesse histórico, cultural e arquitetônico, que estejam degradadas no CUB; (...)
IX – promoção da integração, qualificação e valorização dos setores da área central do Plano Piloto de Brasília, em conformidade com o preconizado no plano urbanístico de Lucio Costa, visando a reforçar a função do centro urbano;
X – permissão de flexibilização de usos, respeitadas as características fundamentais do CUB e do estabelecido pelo documento Brasília Revisitada, ano que concerne a exceção das restrições estabelecidas pelo Decreto 10.829/1987;
Em dezembro de 1987 a Unesco declarou Brasília como patrimônio cultural da humanidade. Esta proteção é imprescindível à manutenção da paisagem e princípios de Brasília, mas o Conjunto Urbanístico tombado também está submetido à função social da cidade, ditada pela Constituição Federal, pelo Estatuto da Cidade (e também pelo PDOT), como qualquer território urbano. Mesmo tendo atingido o maior PIB do país (informações na página 50), há mais de 160 mil famílias vivendo na faixa da pobreza no Distrito Federal. Até dezembro de 2020, 2.019 pessoas da Capital Federal se declararam em situação de rua, e estes números têm crescido. Essas pessoas ocupam principalmente áreas que compõe o tombamento. O Plano Piloto possui renda familiar média de R$15.000, enquanto a renda das pessoas trabalhando como catadoras de material reciclável e morando em barracos irregulares varia entre R$250 e R$40010. Somando estes dados a todos os outros previamente apresentados, o PPCUB precisa estar comprometido com o combate das desigualdades sociais que estão manifestas em seu território, trazendo isto expresso em seus princípios e diretrizes. Urgem estratégias que alinhem preservação patrimonial e a função social do território urbano.
82
TÍTULO IV - DAS DIRETRIZES SETORIAIS DO PPCUB
CAPÍTULO I - DA MOBILIDADE NO CUB
Art. 23. As diretrizes gerais para a mobilidade no CUB visam estabelecer um padrão de desenvolvimento que possibilite reduzir a circulação de veículos de transporte motorizado individual, em observância com a política setorial de mobilidade, viabilizando padrões sustentáveis de deslocamento, e consistem no seguinte:
(...)
II - priorização, no tratamento do espaço público, dos modos não motorizados de transporte, em especial às infraestruturas destinadas aos pedestres e ciclistas, observado o desenho universal;
(...)
VI - redução da velocidade nas vias de trânsito rápido e arteriais, de forma a priorizar a segurança viária e permitir o deslocamento seguro dos pedestres e ciclistas;


A relação entre a mobilidade e a segurança das mulheres foi anteriormente explorada no texto do PDOT e também PDTU, deixando evidente a necessidade de se ouvir as demandas apresentadas por mulheres, preferencialmente o mais diversas possível, das adolescentes às idosas, mães, lésbicas, mulheres com deficiência... A partir dos problemas apresentados, assim como os possíveis elogios, é possível planejar soluções que aumentem a segurança e liberdade de todas.
DEPOIMENTOS - usuárias Metrô - DF
“(...) eu descia na estação 102 me sentia insegura ao atravessar a SQS 202, pela calçada que acompanha o eixinho de baixo, pois até chegar na área comercial (CLS 201/202) é uma trajetória envolta somente por residências, que em alguns horários fica muito vazia e onde já ocorreram diversos assaltos.”
“O terminal asa sul em certos horários é mais vazio e eu sinto insegurança. E também o trajeto que faço da estação 102 até a 902, boa parte desse trajeto é pouco movimentado e fico com medo de algo acontecer, costumo andar bem rápido.”
“Evito lugares mal iluminados no geral, terrenos baldios principalmente com mato alto (vários próximos a UnB), passagens subterrâneas (exceto as das estações que são um pouco mais seguras devido à presença de iluminação).”
83
Fonte: Google Street View, acesso no dia 13/03/2021. Data da imagem 06/2019.
Fonte: https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/, data de acesso: 09/05/2021
TÍTULO IV - DAS DIRETRIZES SETORIAIS DO PPCUB
CAPÍTULO II - DA POLÍTICA HABITACIONAL NO CUB
Art. 25. As diretrizes gerais para a habitação no Conjunto Urbanístico de Brasília visam a qualificar a produção habitacional, a adequar a provisão de moradias ao déficit e à demanda habitacional, e compreendem o seguinte:
(...)
III – o fomento, à luz da justiça social, da inserção de habitação de interesse social em áreas centrais dotadas de infraestrutura e serviços, em contraponto à tendência de espraiamento da ocupação territorial no Distrito Federal;
(...)
X – a inserção de habitação nos setores centrais, condicionada à preservação da paisagem urbana histórica moderna e à reabilitação dos edifícios, quando for o caso;
XI – o atendimento preferencial, nos empreendimentos de interesse social, à população que trabalha no CUB e à população em déficit habitacional, que mora ou trabalha na Unidade de Planejamento Territorial Central;
XII – a criação de alternativas de moradia para população jovem, nas regiões centrais, com diversidade tipológica e adequadas à faixa de renda;
XIII – a promoção de uma rede de proteção social e econômica da população, por meio do serviço de monitoramento e acompanhamento social das famílias beneficiadas pela política habitacional e da integração com outras políticas públicas afins;
A inserção de Habitação de Interesse Social de qualidade no Conjunto Urbano de Brasília possui papel fundamental no combate a desigualdades sociais para além da questão do deficit habitacional, uma vez que a maioria das oportunidades, serviços e equipamentos estão concentrados nessa região. Na Zona Central, de acordo com dados da CODEPLAN de 2018, residem cerca de 11,3% dos habitantes do Distrito Federal. Nesta mesma região estavam concentrados 43,4% dos postos de emprego formal no ano de 2013 (mapas ilustrando estes dados na página a seguir). Como o trabalho reprodutivo, de cuidados com crianças recai majoritariamente sobre mulheres (como apresentado no gráfico na página 70 junto ao texto da (LUOS), e já é uma diretriz da Lei Fundiária a priorização das mulheres na concessão do direito de uso da terra, o texto da Política Habitacional no CUB deve apresentar a pauta da priorização de mães chefes de família.
O impacto social de se priorizar mães solo nos empreendimentos de moradia de interesse social na região com maior disponibilidade de empregos, creches, escolas, parques, postos de saúde e hospitais possui alto impacto no combate a diversas formas de desigualdade social.
84
Densidade populacional Nº de habitantes do DF, por Regiões Administrativas onde residem.

Fonte: CODEPLAN, 2018.

Número

Nº de ocupações formais por macro regiões e Regiões Administrativas de índice mais alto Fonte: CODEPLAN, 2013




Fonte: Mulheres que Andam nos Trilhos, 2020.

85 Planaltina São Sebastião ranoá
Centro-Oeste 209.286 17,1% Taguatinga 95.890 7,9% Guará 30.327 2,5% Águas Claras 26.643 2,2% SIA 24.313 2,0% Outras 39.911 3,4% Central 514.500 43,4% Brasília 519.431 42,6% Outras 9.364 0,8% Região Oeste 158.810 13,0% Ceilândia 81.157 6,7% Samambaia 38.233 3,1% Outras 39.421 3,2% Norte 76.396 6,3% Planaltina 33.602 2,8% Sobradinho 25.424 2,1% Outras 17.370 1,5% Leste 35.907 2,9% Central Adj. e Núcleos Isolados 45.958 3,7% Sul 52.153 5,2% Gama 32.569 2,7% Outras 30.363 2,5% Áreas com concentração humana.
de postos de trabalho formal.
São Sebastião Paranoá Santa Maria Planaltina Gama R. das Emas Riacho Fundo Águas Claras Núcleo Band Samambaia Ceilândia Taguatinga Guará Brazlândia Brasília Sobradinho
Região Oeste 796.077 27,9% Ceilândia 489.351 Samambaia 254.439 Brazlândia 52.287 Centro-Oeste 632.448 22,1% Taguatinga 222.598 Guará 119.950 N. Bandeirante 24.000 Riacho Fundo 39.200 Águas Claras 119.000 Outras 107.700 Sul 452.436 15,8% Gama 141.911 Santa Maria 125,123 Recanto das Emas 145.304 Outras 40.098 Nort e 367.493 12,8% Planaltina 189.421 Sobradinho 169.326 Outras 8.746 Central Adj 95.840 3,3% Lago Norte 37.455 Lago Sul 29.346 Outras 29.039 Leste 243.850 8,5% São Sebastião 108.650 Paranoá 49.650 Outras 85.550 Central 324.042 11,3% Brasília 220.393 Outras 103.649
TÍTULO VI - DOS INSTRUMENTOS DE PRESERVAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
CAPÍTULO III - DOS PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS
SEÇÃO III - EIXO 2: REVITALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CONJUNTOS URBANOS

SUBSEÇÃO I - Programa de Revitalização dos Setores Centrais de Brasília
Art. 84. O programa de revitalização dos Setores Centrais de Brasília agrega ações relacionadas a políticas públicas de transporte, mobilidade urbana, planejamento urbano e infraestrutura.
§1º O Programa compreende três linhas de ação:
I – Intervenções sobre o espaço público, que tem como diretrizes:

a. recuperação ou implantação de calçadas, com rota acessível;
b. plantio de espécies arbóreas e recuperação da cobertura vegetal;
c. remanejamento e adequação da iluminação pública;
d. locação de mobiliário urbano;
(...)
j. implantação de passarelas de conexão entre edificações;
k. melhoria e implantação das circulações verticais nos espaços públicos.
(...)
O projeto de reabilitação e revitalização dos Setores Centrais de Brasília (e do CUB como um todo) precisa considerar a vivência de suas usuárias.
DEPOIMENTOS - usuárias Metrô - DF
“Dependendo do horário que saio do estágio e devo atravessar o SCS presto mais atenção por ser um lugar com pouco iluminação e por depois das 18h se tornar praticamente deserto.”
“(...) ando com a chave entre os dedos, e por hábito, sempre mudo o percurso. Faço isso desde o momento que saio do trabalho no SCS, e pego a estação galeria, (...)”
“Acho a estação galeria bem perigosa o caminho sentido CGU.”
“Rodoviária do plano piloto e a estação central são medonhas em horários mais tardes(...)”
“Na estação da rodoviária só ando correndo, e se estiver de fone retiro ou desligo a música.”
Fonte: https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/, data de acesso: 09/05/2021
Autoria: Zukyron Fonte: https://www.instagram.com/p/ CNIDylAM9TQ/
86
“As rosas da resistência nascem no asfalto. A gente recebe rosas, mas vamos estar com o punho cerrado falando de nossa existência contra os mandos e desmandos que afetam nossas vidas.”
Marielle Franco sobre o Dia Internacional da Mulher durante o seu último pronunciamento.
Câmara dos Vereadores, Rio de Janeiro, março de 2018.
Bibliografia
concedidos aos assentados da reforma agrária e dá outras providências. Congresso Nacional, Legislação Informatizada. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ ato2015-2018/2017/Lei/L13465.htm>. Acesso em 19/10/2021.
Legislação
BRASIL Constituição da República Federativa do Brasil, 5 de outubro de 1988. Legislação Informatizada. Disponível em: <http://www.planalto. gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao. htm>. Acesso em 14/05/2021.
SUPLEMENTO%20A/DODF%20012%2017-012019%20SUPLEMENTO%20A.pdf>. Acesso em 14/05/2021.
____ Lei n. 4.566/2011, de 4 de maio de 2011. Dispõe sobre o Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade do Distrito Federal –PDTU/DF e dá outras providências. Governador do Distrito Federal, Legislação Informatizada. Disponível em: <http://editais.st.df.gov.br/ pdtu/leipdtu.pdf>. Acesso em 09/09/2021.
_____
Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. Congresso Nacional, Legislação Informatizada. Disponível em: < http://www. planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257. htm>. Acesso em 14/05/2021.
DISTRITO FEDERAL Lei Complementar nº803, de 25 de abril de 2009. Aprova a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal — PDOT e dá outras providências. Governador do Distrito Federal, Legislação Informatizada. Disponível em: < http://www. sinj.df.gov.br/sinj/Norma/60298/Lei_Complementar_803_25_04_2009.html>. Acesso em 14/05/2021.
_____
Lei nº12.378, de 31 de dezembro de 2010, Regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo; cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal - CAUs; e dá outras providências. Congresso Nacional, Legislação Informatizada. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/ l12378.htm>. Acesso em 14/05/2021.
_____
Lei Complementar nº854, de 15 de outubro de 2012. Atualiza a Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009, que aprova a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT e dá outras providências. Governador do Distrito Federal, Legislação Informatizada. Disponível em: < http://www. sinj.df.gov.br/sinj/Norma/72806/Lei_Complementar_854_15_10_2012.html>. Acesso em 14/05/2021.
____ Lei n. 4848/2012, de 1 de junho de 2012. Dispõe sobre a destinação de espaços exclusivos para mulheres e portadores de necessidades especiais no sistema metroviário do Distrito Federal. Câmara Legislativa do Distrito Federal, Legislação informatizada. Disponível em: < https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=241946>. Acesso em 30/11/2020.
_____ Lei Orgânica, de 08 de julho de 1993. Câmara Legislativa do Distrito Federal, Legislação Informatizada. Disponível em: < http:// www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/ legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=0&txtAno=0&txtTipo=290&txtParte=.>. Acesso em 14/05/2021.
_____ Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017. Dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana, sobre a liquidação de créditos
_____
Lei Complementar nº948 , de 16 de janeiro de 2019. Aprova a Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal - LUOS nos termos dos arts. 316 e 318 da Lei Orgânica do Distrito Federal e dá outras providências. Câmara Legislativa do Distrito Federal, Legislação Informatizada. Disponível em: < http:// www.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial/2019/01_ Janeiro/DODF%20012%2017-01-2019%20
SANTO ANDRÉ Lei nº8.696, de 17 de dezembro de 2004. Institui o novo Plano Diretor do município de Santo André, nos termos do artigo 182 da Constituição Federal, do capítulo III da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade - e do Título V, Capítulo III, da Lei Orgânica do Município de Santo André. Câmara Municipal de Santo André, Legislação
88
Informatizada. Disponível em: < http://www. cmsandre.sp.gov.br/index.php?option=com_ content&view=article&id=505&Itemid=64>.
Acesso em 14/05/2021.
SÃO PAULO Lei nº16.050 , de 31 de julho de 2014. Aprova a Política de Desenvolvimento Urbano e o Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo e revoga a Lei nº 13.430/2002. Câmara Municipal de São Paulo, Legislação Informatizada. Disponível em: <http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-16050-de-31-de-julho-de-2014>. Acesso em 14/05/2021.
Relatórios
4 ANIS –INSTITUTO DE BIOÉTICA, DIREITOS HUMANOS
E GÊNERO e MPDFT. Radiografia dos homicídios por violência doméstica contra a mulher no Distrito Federal. Org. Debora Diniz. 2015 Disponível em <https://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/nucleos/nucleo_genero/publicacoes/ Pesquisa_ANIS_Radiografia_homicidios_violencia_domestica.pdf>. Acesso em 19/10/2021.
2, 7 CODEPLAN, DIEESE e SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL. Pesquisa de Emprego e Desemprego, 2020. Disponível em <http://www.codeplan.df.gov.br/ped-pesquisa-de-emprego-e-desemprego/>. Acesso em 19/1/2021.
CODEPLAN. Perfil da Distribuição de Postos de Trabalho no Distrito Federal: Concentração
no Plano Piloto e Déficit nas Cidade-Dormitório, 2013. Disponível em <http://www.codeplan. df.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/Perfil-da-Distribui%C3%A7%C3%A3o-dos-postos-de-Trabalho-no-DF-Concentra%C3%A7%C3%A3o-no-Plano-Piloto-e-Deficits-nas-Cidades-Dormit%C3%B3rio.pdf>. Acesso em 14/05/2021.
www.codeplan.df.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/Destaques_PDAD_revisado.pdf>. Acesso em 14/05/2021.
IBGE. Cidades e Estados . Brasília, 2020. Disponível em <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/df/brasilia.html>. Acesso em 14/05/2021.
_____
População indígena: Um primeiro olhar sobre o fenômeno do índio urbano na Área Metropolitana de Brasília, 2015. Disponível em <https://www.codeplan.df.gov.br/wp-content/ uploads/2018/02/Popula%C3%A7%C3%A3o-ind%C3%ADgena-Um-primeiro-olhar-sobre-o-fen%C3%B4meno-do-%C3%8Dndio-urbano-na-%C3%81rea-Metropolitana-de-Bras%C3%ADlia.pdf>. Acesso em 19/10/2021
____ Síntese de Indicadores Sociais : uma Análise das Condições de Vida da População Brasileira. Brasília, 2019. Disponível em: < https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/ livros/liv101678.pdf>. Acesso em 14/05/2021.
Referências Bibliográficas
Fluxos Intrametropolitanos – Distrito Federal e Municípios Adjacentes, 2014. Disponível em <http://www.codeplan.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/03/ Fluxos-Intrametropolitanos-Distrito-Federal-e-Munic%C3%ADpios-Adjacentes.pdf>. Acesso em 14/05/2021.
_____
9 ALIAGA FUENTES, Maribel, OLIVEIRA, Larissa C., TAVARES, Gabriela M. P., ZAMPRONHA, Sara C. C. Mulheres, Cidades e Violências: percurso histórico, urbanístico e estrutural. Seminário de História da Cidade e Urbanismo, Salvador, BA, Brasil. 15 jun. 2021.
_____ Densidades Urbanas nas Regiões Administrativas do Distrito Federal , 2017. Disponível em < http://www.codeplan. df.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/ TD_22_Densidades_Urbanas_nas_Regi%C3%B5es_Administrativas_DF.pdf>. Acesso em 14/05/2021.
1 _____ Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios , 2018. Disponível em <http://
5, 6 BLAY, E. A.; AVELAR, L. (EDS.). 50 anos de feminismo: Argentina, Brasil, Chile: a construção das mulheres como atores políticos e democráticos. São Paulo, SP, Brasil: FAPESP : Edusp, 2017.
3 ELIAS, Michelly F. M. Expressões da desigualdade social no Distrito Federal entre 2018 e 2020: O acirramento da “questão social” durante a pandemia de COVID-19. Research, Society and Development, v. 10, n.
5, e28310514976, abril, 2021
KERN, Leslie. Feminist city: claiming space in a
89
man-made world. Toronto: Verso. 2019.
SARMENTO, Daniela P. G. A Participação da Mulher na Construção da Cidade Contemporânea: contribuições para um novo modelo de planejamento urbano em Blumenau/SC. Ciências Sociais e Filosofia, mestrado. Universidade Regional de Blumenal, 2017.
OKIN, Susan. M. Gênero, o público e o privado. Revista Estudos Feministas, v. 16, n. 2, p. 305–332, agosto, 2008.
OLIVEIRA, Larissa. C. Módulo Lótus: Projeto de intervenção e Requalificação da Casa da Mulher Brasileira. Arquitetura e Urbanismo, graduação. Universidade de Brasília, 2020.
REZZUTTI, P. Mulheres do Brasil: a história não contada. Rio de Janeiro, RJ: LeYa, 2018.
ZAMPRONHA, Sara. C. C. Mulheres que andam nos trilhos: elas estão seguras? Traçado urbano e segurança das mulheres usuárias do Metrô-DF. Arquitetura e Urbanismo, graduação. Universidade de Brasília, 2020.
Outros
DISTRITO FEDERAL Apresentação do PPCUB, 2017. Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação. Disponível em <http:// www.seduh.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/11/apresentacao_ppcub_ct_abril. pdf>. Acesso em 19/10/2021.
_____ Documento Técnico PDOT, 2017. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. Disponível em < http://www.seduh.
df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/09/ documento_tecnico_pdot12042017.pdf>.
Acesso em 19/10/2021.
_____ Documento para Discussão - PPCUB, 2017. Secretaria de Estado e Gestão de Território e Habitação do DF. Disponível em < http://www.seduh.df.gov.br/wp-conteudo/ uploads/2017/11/texto_audiencia-_notas.pdf>.
Acesso: 19/10/2021.
_____ Proposta de Minuta PLC PPCUB, 2017. Aprova o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília – PPCUB e dá outras providências. Câmara Legislativa do Distrito Federal, Legislação Informatizada. Disponível em: < http://www.seduh.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/11/Minuta-PLC-PPCUB. pdf>. Acesso em 14/05/2021.
_____ Plano Distrital de Habitação de Interesse Social, 2012. Compatibiliza as diversas iniciativas habitacionais em torno de um Sistema Distrital de Habitação para o enfrentamento do déficit habitacional. Secretaria de Estado da Casa Civil e Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Humano. Disponível em <http://www.seduh.df.gov.br/ wp-conteudo/uploads/2017/10/PLANDHIS-Reda%C3%A7%C3%A3o-final-12.12.12.pdf>. Acesso em 19/10/2021.
10 DIOGO, Darcianne. A face da desigualdade: DF tem mais de 160 mil famílias na faixa da pobreza. 10 de janeiro, 2021. Correio Braziliense, disponível em <https:// www.correiobraziliense.com.br/cidades-d -
f/2021/01/4899357-a-face-da-desigualdade-df-tem-mais-de-160-mil-familias-na-faixa-da-pobreza.html>. Acesso em 21/10/2021.
90
Aluna: Sara Cristina de Carvalho Zampronha
Orientadora: Profª. Drª. Maribel Del Carmen Aliaga Fuentes
Banca examinadora: Profª. Dra. Carolina Pescatori









92
“Ainda vão me matar numa rua. Quando descobrirem, principalmente, que faço parte dessa gente que pensa que a rua é a parte principal da cidade.”
Leminski; Toda Poesia.
MARIELLE FRANCO PRESENTE