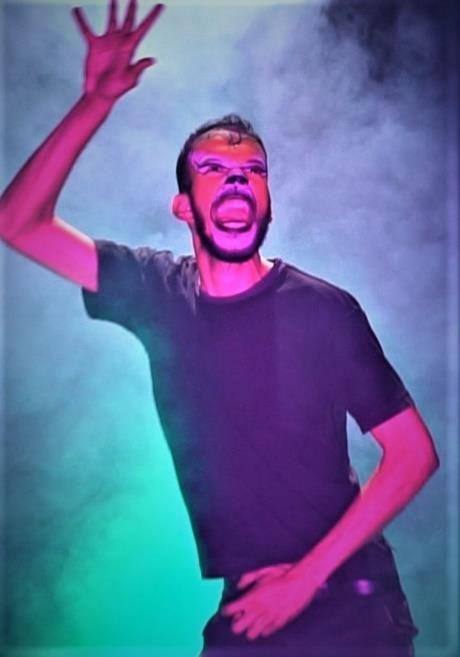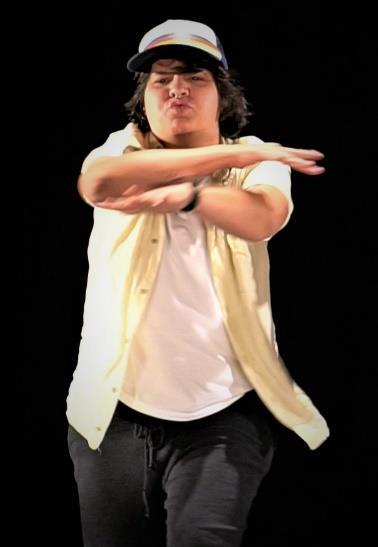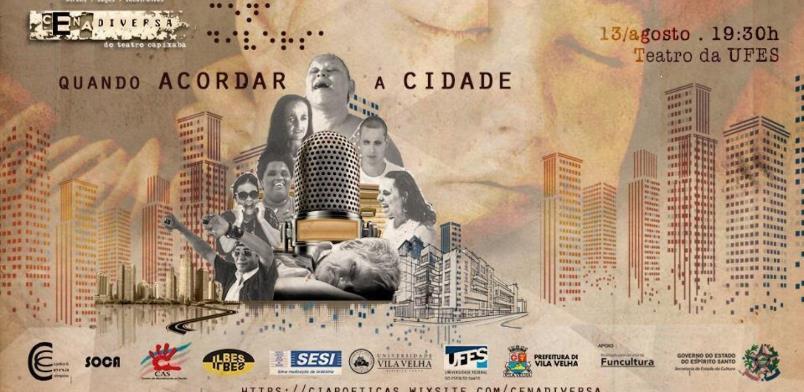13 minute read
Modulações da Subjetividade Contemporânea
Maria Carolina de Andrade Freitas
A
Advertisement
subjetividade atualmente é tomada como algo da esfera privada, uma forma intimista de ‘natureza’ que estaria referida à interioridade como uma invariante, que não se articula às produções históricas (Machado, 1999). Devemos encarar, contudo, a problemática sob outro ponto de vista: o das produções ou dos modos de subjetivação que consistiriam em forças de transformação, ao devir, ao intempestivo como processo de dissolução de formas dadas. Pois é isto o que a história nos indica: o incessante engendramento de formas e verdades que são descontínuas e provisórias. A tecitura destes modos se estabelece a partir de um coletivo de elementos ou por materiais de expressão diversos: música, palavras, gestos, moedas, conhecimentos, técnicas, afetos, circuitos. “Vinham também esses começos de coisas indistintas: o que a gente esperou dos sonhos, os cheiros do capim e o berro dos bezerros sujos a escamas cruas...4” Assim, não há produção de subjetividade desvinculada dos textos concretos da existência em momentos datados. Somos atravessados por uma infinidade de complexos elementos ou forças/fluxos. O campo social ao qual pertencemos é modulado por uma heterogeneidade radical. Os modos de subjetivação denotam as diversas montagens territoriais possíveis de existência e expressão. Contudo, cabe ressaltar que numa época assujeitada ao capital, tal produção é marcada por sujeições econômicas, políticas e também subjetivas (Guattari, 2005).
Todos vivemos quase cotidianamente em crise, crise da economia, mas não só da economia material, senão também da economia do desejo que faz com que mal consigamos articular um certo jeito de viver e ele já caduca. (GUATTARI, 2005, p. 15)
Essa defasagem que se estabelece entre os modos de existência e nossas experiências, exige cada vez mais agilidade na montagem de territórios. Machado (1999) sugere que o que se assiste sob a forma de certa ‘ditadura da velocidade’ marca processos contínuos de
aceleração que produzem e restringem todas as múltiplas coisas que somos às formas
padronizadas
e esgotadas em suas fontes conectivas. O cotidiano empobrecido torna-se opaco, as relações esvaziadas e cansativas, e os corpos exaustos e adoecidos. Machado (1999) aponta que o contemporâneo, sob o ideário da velocidade, fruto do processo que Guattari
4 Manoel de Barros em Aquela madrugada. In: Obras Completas (2010, p. 111).
(2005) chamou de capitalismo mundial integrado (CMI), produz a intensificação das formas de controle da vida por meio do biopoder. Isto coloca em jogo, a exigência de territórios, mas também processos de desterritorializações brutais. Assim, passamos a banalizar as diferenças, adotando mesmo processos de indiferença e de não envolvimento com a vida e com outro. Exilando-nos das possibilidades de afetar e sermos afetados pelos encontros. Há muito, pensar os processos de subjetivação implica a dialética entre a subjetivação e a dessubjetivação mediante as possibilidades dos sujeitos em estabelecerem relações com os enquadres que experimentam. Assim, ao contrário do que entendemos corriqueiramente por “subjetividade”, esta não se refere a uma interioridade fechada, mas sim vincula-se a uma inflexão singular, de superfície porosa, que nos lembra a velha afirmação de Valéry a de que: “o mais profundo é a pele”. A pele é por excelência o órgão do contato. Aquilo que o poeta em verso declama permanecer “à flor da pele”, é aquilo que entrelaça dentro e fora em dimensões acontecimentais. Neste ponto entrecruzamos: subjetivações, poderes, tecnologias e entrelaces sociais/institucionais, enquadramentos. Recentemente Eliane Brun (2019) escreveu em El País, um belíssimo texto que intitulou: “A potência da primeira geração sem esperança”, na qual a autora nos lembra dos jovens ativistas que lideram a greve climática mais atual, cuja representante principal, a sueca Greta Thumberg, numa manifestação em Viena declara que os adultos têm se comportado como crianças e afirma: “nossa casa está em chamas. Eu não quero a sua esperança. Eu quero que vocês entrem em pânico”. Cansada de ter esperança, essa esperança vendida de forma marqueteiramente arquitetada pelo capital interesseiro, o que a jovem sueca revela, segundo analisa Brun (2019), é que precisamos “desinventar o futuro, urgentemente”. Precisamos “desinventar o futuro”. Esse futuro programado que mira, implementa e executa uma política econômica insustentável ecológica e socialmente, uma vez que privilegia a manutenção de uma produção desintegradora, desigual, absurdamente acelerada e vertiginosa, que vai deixando ao léu milhões de vidas a própria sorte. Para inventar algo melhor.
Butler (2015)
mostrou em “Quadros de guerra” que estamos a destinar às vidas precárias - ou aos corpos matáveis como chamou Achille Mbembe (2018) ou ainda a massa de supérfluos - a demanda de morte e adoecimento. Diante disso, a pergunta ética para nós hoje, que nos ajuda no enfrentamento as formas de endurecimento e desconexão com a vida, é não somente sobre o que ganhamos,
mas também e principalmente sobre o que perdemos e o que devemos aprender, com o crescimento tecnológico e social disparatado que assistimos. O que estamos a produzir de nós mesmos? A prerrogativa foucaltiana nos avisa que a liberdade é sempre condicional e não é prudente ir “dormir como pedra e esquecer o que foi feito de nós” (Milton Nascimento, 1978).
É diante disso, conforme nos aponta Brun (2019), que é preciso desinventar o futuro. Precisamos sacudir toda a gente. Precisamos sair da proliferação dessas imagens sedutoras e desse engodo vazio e paralisante que afirma o desenvolvimento sem justiça, e o crescimento sem distribuição. Sair da proliferação dos sentidos que capturam as existências e trabalhar insistentemente para a produção de consistências. Como apontou-nos Cordiè (1996) “cada época produz suas patologias”. Pois essas não são meros efeitos de políticas estrategicamente executadas, mas sim suas obras. “Recusar-se a ser objeto de esperança é recusar-se a ser consumido pela engrenagem que já engoliu rebeldes muito mais velhos e experientes e mastigou as insurreições usando todos os dentes, apenas para cuspí-los na sequência” (Brun, 2019, p. 03). A aposta é a de considerar necessário efetuar movimentos que escapem à captura capitalística da subjetividade, reinventando cotidianamente modos de existências singulares, capazes de assumirem-se provisórios e intensos. Criar e afirmar a indissociabilidade entre a ética, a estética e a política. Ética para assumir aquilo que nos desassossega. As diferenças. Aquilo que nos implica de maneira irredutível na trama da existência. Estética como criação de pensamento que encarne estas diferenças, e, política como dimensão de luta contra as forças que nos obstruem as nascentes do devir e insurgem em partículas revolucionárias contra todas as formas de opressão e violência (Rolnik, 1993). Encarar o finito e despedir-se do absoluto. Despedir-se dos critérios de verdade estabelecidos a priori, por modelos morais prontos e rijos, avaliando o quanto cada forma (saber) favorece ou desfavorece a vida. Para aceder a este convite é necessário abrir mão do tribunal da razão, desse juiz universal, a fim de verificarmo-nos órfãos, lançados numa luta permanente de forças, nos sugere Rolnik (1993). Criar condições para a escuta das diferenças: “São mil coisas impressentidas que me escutam”5 . Esta prerrogativa clínica afirma a vida como princípio inventivo e resiste contra qualquer tipo de dominação ou controle, abrindo mão dos modelos e legados prontos. Enfrentar o que cada aglutinação de diferenças coloca, por meio da sustentação do novo, do
5 Manoel de Barros em Fragmentos de Canções e Poemas. In: Obras Completas (2010, p. 49).
relançamento da processualidade da vida, irrompendo na invenção de outros modos e mundos, numa guerrilha sensível insistente. A potência estética do sentir, como afirma Guattari (1992), ocupa uma posição privilegiada no seio dos agenciamentos coletivos de enunciação de nossa época. Apontar a estética não como arte institucionalizada, mas como uma dimensão de criação em estado nascente. “Deixei uma ave me amanhecer6”, diria o poeta. Num mundo de relações precárias, no qual os laços do encontro são esvaziados de consistência e ao mesmo tempo, carregam as vicissitudes das tensões e emergências do capital e suas sujeições, dispositivos microfísicos podem fazer face à mortificação da vida, ao restituírem agenciamentos semióticos que produzam – como a arte – qualidades de ser inéditas.
Desta feita, o acontecimento pode eclodir, não mais – como talvez se defendeu – na ‘interioridade do ser’ ou em ‘suas profundezas’, mas sim na superfície. Dos afetos, do campo intensivo e de uma experimentação prudente, é que a superfície se constitui suporte e pode agenciar acontecimento. Deleuze (1974) procurando estabelecer uma teoria do sentido a partir da elucidação do pensamento estóico e retomando as contribuições de Lewis Carroll, demonstra que a linguagem delimita limites, mas também os ultrapassa, restituindo-os à equivalência infinita de um devir ilimitado. Em contraponto às formulações platônicas de que o sentido achar-se-ia debaixo das coisas, oculta nos corpos sensíveis e materiais, os estóicos mostraram que não há causas e efeitos entre os corpos. Uma vez que todos os corpos são causas uns para os outros e os efeitos não são estados de coisas, mas acontecimentos. Para os estóicos, os estados de coisas não são menos seres (ou corpos) que a substância, no sentido aristotélico. Dessa forma, o que há nos corpos e em seus encontros são misturas. O
devir
traz paradoxalmente à superfície realidades distintas, quanto aos acontecimentos incorporais, que resultam de misturas, conduzindo a filosofia à uma subversão. Sendo assim, o paradoxo aparece como destituição da profundidade e exibe o acontecimento na superfície como desdobramento da linguagem. “Eis que agora tudo sobe à superfície” (1974, p. 8). Deleuze (1974) considera que a operação estóica faz o ilimitado
subir: “O devir-louco, o devir-ilimitado não é mais um fundo que murmura, mas sobe à superfície das coisas e
se torna impassível. Não se trata mais de simulacros que escapam do fundo e se insinuam por toda parte, mas de efeitos que se manifestam e desempenham seu papel (...) Os estóicos descobriram os efeitos da superfície”. (DELEUZE, 1974, p. 8-9)
6 Manoel de Barros em Caderno de Apontamentos. In: Obras completas (2010, p. 275)
O acontecimento é coextensivo ao devir e o devir à linguagem. Como bons amantes dos paradoxos e invenções, os estóicos fornecem outro modo de pensar a linguagem: tudo se passa na fronteira entre as coisas e as proposições. Por isso, Alice, de Lewis Carroll denotaria exemplo gracioso quanto às experimentações linguísticas possíveis à literatura, à arte, à vida. “Por um lado o mais profundo é o imediato; por outro o imediato está na linguagem”. (DELEUZE, 1974, p. 9).
Toda a obra de Carroll trata dos acontecimentos na sua diferença em relação aos seres, às coisas e estado de coisas. Mas no começo de Alice (toda a primeira metade) procura ainda o segredo dos acontecimentos e do devir ilimitado que eles implicam, na profundidade da terra, poços e tocas que se cavam, que se afundam, mistura de corpos que se penetram e coexistem. À medida que avançamos na narrativa, contudo, os movimentos de mergulho e de soterramento dão lugar a movimentos laterais de deslizamento, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Os animais das profundezas tornam-se secundários, dão lugar a figuras de cartas de baralho, sem espessura. Dir-se-ia que a antiga profundidade se desdobrou na superfície, converteu-se em largura. (...) Os acontecimentos são como os cristais, não se transformam e não crescem a não ser pelas bordas, nas bordas. (DELEUZE, 1974, p. 10)
Apostar nas rupturas de sentido que promovam a fluidez e a liberdade de invenção. Apostar que o dispositivo clínico deve destituir o absoluto e reconhecer, não somente que, a subjetividade é descentrada, como apostar em nossa tragicidade agonística, escapando às falsas garantias de verdade e produzindo singularizações responsáveis. Tal descoberta implica uma ética singular: como Alice de Carroll, só se cresce ou se diminui pelas bordas. Os acontecimentos concernem tanto mais aos corpos quando percorridos em suas extensões, sem profundidade. Deleuze (1974) sinaliza-nos que os adultos foram aspirados pelo fundo. Recaem e não compreendem mais, por que são muito profundos. Por fim, indica que é sempre contornando a superfície, a fronteira, que passamos ao avesso e ao Acontecimento, elevando-nos ao nível da linguagem todo o devir e seus paradoxos. “Onde nasci, morri. Onde morri, existo. E das peles que visto, muitas há que não vi”7 .
Acreditar no mundo é o que mais nos falta; nós perdemos completamente o mundo, nos desapossaram dele. Acreditar no mundo significa principalmente suscitar acontecimentos, mesmo que pequenos, que escapem ao controle, ou engendrar novos espaços–tempos, mesmo de superfície ou volume reduzidos. É ao nível de cada tentativa que se avaliam a capacidade de resistência ou, ao contrário, a submissão a um controle. (DELEUZE, 1992, p. 218)
7 Carlos Drummond de Andrade em Sonetilho do Falso Fernando Pessoa. In: Nova Reunião (2009, p. 308)
Concorrer
para a invenção de modos minoritários de subjetivação, ou ainda, de mundos e sujeitos, como apontaram Fonseca e Kirst (2004). “Por toda parte sentir os segredos das coisas vivas. Entrar por caminhos ignorados, sair por caminhos ignorados (...)8” Mapear intensidades e afetos, ampliar a superfície do contato com o fora.
Potencializar
a transformação do cotidiano e dos processos de feitura de si, fazendo resistência à vontade de verdade imobilizadora das processualidades e devires. Produzir diferenciação que propague espaços de ruptura com as padronizações serializadas e criar pontes que proliferem consistências inusitadas (Fonseca e Kirst, 2004). Afinal, nos indica o poeta do pantanal: “Quem não tem ferramentas de pensar, inventa9”. Desinventar o futuro é romper com a produção da subjetividade serializada, entorpecida pelo fluxo material do consumo e do vício, a partir da invenção de modos de sensibilidade. Como propõe Guattari (2005) instaurar dispositivos de singularização que coincidam com o desejo. Agenciar, portanto, outros modos de produção semiótica. Atravessar corpos, passar ao acontecimento, poder abrir vistas ao enfrentamento de nossa finitude/ limite e resguardar, sem medo, a vida como potência de transgressão. Daí que nossos sofrimentos poderão de mortíferos, verdejarem outros modos. Dessa forma, quem sabe, sem ceder da palavra e dos encontros que a vida pode propiciar, fazer resistência à sujeição mortificadora. “Com as palavras se podem multiplicar os silêncios.10” Tecer uma revolução desejante: considerar como Mancebo (2002) que o contemporâneo precisa ser produzido. O futuro serializado: desinventado e o mundo da catástrofe: destituído!
Mãos à obra.
Referências Bibliográficas:
ANDRADE, C. D. Nova Reunião: 23 livros de poesia. Vol1. Rio de Janeiro: Bestbolso, 2009. BARROS, M. D. Manoel de Barros: Poesia Completa. São Paulo: Leya, 2010. BUTLER, Judith. Quadros de Guerra: quando a vida é passível de luto? Tradução de Sérgio Tadeu de Niemeyer Lamarão e Arnaldo Marques da Cunha; revisão de tradução de Marina Vargas; revisão técnica de Carla Rodrigues. 1ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2015. BRUN, Eliane. “A potência da primeira geração sem esperança”. El País, 2019. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/06/05/politica/1559743351_956676.html, recuperado em 05/11/2019. CORDIÉ, Anny. Os atrasados não existem. Psicanálise de crianças com fracasso escolar. Trad. Sônia Flach e Marta D`Agord. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996.
8 Manoel de Barros em Olhos Parados. In: Obras completas (2010, p. 58 – 63) 9 Manoel de Barros em O fazedor de amanhecer. In: Obras completas (2010, p. 473) 10 Manoel de Barros em Bernardo. In: Obras Completas (2010, p. 477)
DELEUZE, G. Lógica do sentido. São Paulo: Perspectiva, 1974. DELEUZE, G. A dobra: Leibniz e o barroco. Campinas, SP: Papirus, 1991. DELEUZE, G. Conversações. São Paulo: Ed.34,1992. FONSECA, T. M. G.; KIRST, P. G. O desejo de mundo: um olhar sobre a clínica. IN: Psicologia e Sociedade; 16 (3): 29-34, set/dez, 2004. GUATTARI, F. Caosmose: um novo paradigma estético. São Paulo: Ed. 34, 1992. GUATARRI, F.; ROLNIK, S. Micropolítica: cartografias do desejo. Petrópolis, RJ: Campinas, 2005.
MACHADO, L. D. Subjetividades Contemporâneas. IN: BARROS, M. E. B. (org). Psicologia: questões contemporâneas. Vitória: EDUFES, 1999. MANCEBO, D. Consumo e subjetividade: trajetórias teóricas. IN: Estudos de Psicologia, 7 (2), 2002.
MBEMBE, Achille. Necropolítica. São Paulo: N-1 edições, 2018. PELBART, P.P. Vida capital: ensaios de biopolítica. São Paulo: Iluminuras, 2009. RAUTER, C. Invasão do cotidiano: algumas direções para pensar uma clínica das subjetividades contemporâneas. IN: KUPERMANN, D.; TEDESCO, S. Polifonias: clínica, política e criação. Rio de Janeiro: Contra-capa, 2005. ROLNIK, S. O mal-estar na diferença. IN: Anuário Brasileiro de Psicanálise. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1995. ROLNIK, Suely. Despedir-se do absoluto. Cadernos de Subjetividade. Núcleo de estudos e pesquisa da Subjetividade. Programa de Pós-graduação em psicologia Clínica. PUC- SP, 1993.