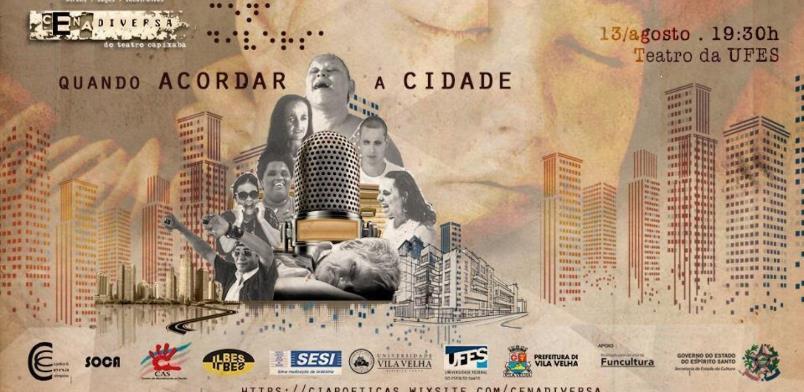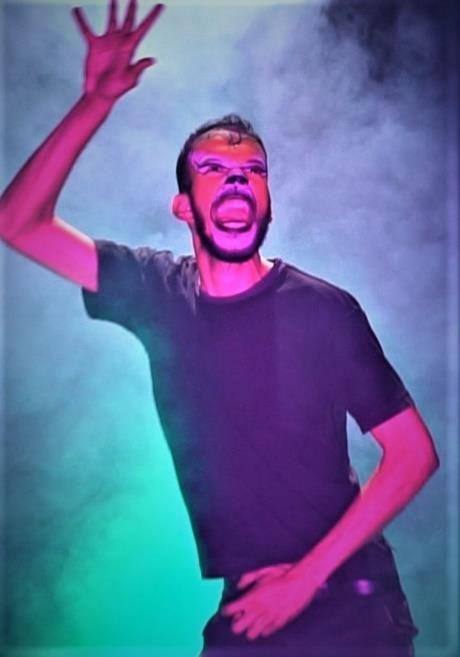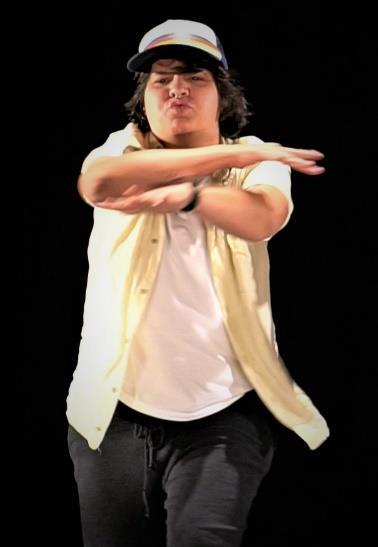7 minute read
CAPÍTULO II: O CENA DIVERSA NA COMUNIDADE SURDA
Memorial da Criação de No Fio da Vida
Rejane Arruda
Advertisement
I.
Até encontrar um caminho
A dificuldade que eu tive em trabalhar com os alunos da Escola Oral e Auditiva que frequentam o CAS Vitória foi em grande parte decorrente de não ter o domínio da Lingua Brasileira de Sinais: comunicação com limites estreitos, que depende de outro para mediar. Contei com a intérprete de Libras e estudiosa da cultura surda Iasmyn Santos, e com Denilson Moreira, intérprete que trabalha no CAS. A oficina durou dois meses no primeiro semestre (maio e junho) e um mês e meio no segundo semestre (agosto e metade de setembro). Havia a sensação de que nada se fixaria devido a instabilidade das presenças. Tínhamos doze participantes, quatro de fato assíduos. No ultimo dia de oficina chegaram vários participantes novos, vindos do horário da tarde, por estarmos na 11ª Semana do Surdo.
A oposição entre o princípio da construção de uma poética corporal hibridizada, com o hábito da utilização de classificadores. Explico. A hipótese de pesquisa sobre a construção de poética corporal para a cena teatral é: a plasticidade corporal deve extrapolar a ilustração e tampouco se reduzir a representação de ações, persoangens ou qualquer referente discursivo. A poética é justamente o que não cabe na represnetação. Os operadores desta construção são: a abstração e os encontros ao acaso (produção a partir da aleatoreidade). De uma “massinha” de corpo (abstrata) se encontra a ação dramática em jogo – em jogo com a forma. E aí sim se constrói um discurso (que é evocado e a forma extrapola, apontando para um não dito). Ou seja, não se tem uma relação entre discurso e forma dada de antemão e o discurso aparece como efeito da cena (do encademento e montagem de formas corporais). “Nos classificadores, mãos e corpo são usados como articuladores para indicar o nome do referente ou o agente da ação” (BERNARDINO, 2012, p. 253). Contextualizando, a sensação que eu tinha era que, em um processo de construção da poética da cena, os classificadores se comportavam como imitações, formas corporais prédeterminadas. O ator por exemplo, coloca a lingua para fora e posiciona as mãos como se fossem patinhas, para classificar um cachorro (ao invés de sinalizar “cachorro”). Na cena teatral, estes classificadores constituem uma estética baseada em ações físicas descritivas de
um discurso. Ou seja, deparei-me com um choque entre princípios de construção corporal cirefentes. Os participantes da oficina estavam acostumados com classificadores. Não havia como, em pouco tempo e com a estrutura de trabalho que eu dispunha, alterar este princípios. Iniciamos com dramatizações através de improvisações com “quem, onde e o que” (Spolin, 2010). Era bastante complexo transmitir a ideia de regra de jogo aleatória – esta necessária para que algo produzido escapa à leitura das ações e a poética cênica advenha. Outro princípio de trabalho que era bastante difícil de transmitir: é preciso trabalhar com algo que está fora do contexto diegético. Como explicar isto a eles? Encontrei-me sem as regras de jogo para criar distorções de espaço e tempo ou formas aleatórias que provocasse fissuras no enquadramento e perspectivas de impasses sobre o sentido. As resultantes das improvisações me pareciam empobrecidas. Era preciso outro caminho.
II.
A Saida com a narratividade em Libras
A contação de estória por surdos é absolutamente performativa. Saem sons, estalos, acentos corporais e vocais. Os surdos estão aptos a falar. Eles podem gritar. Eles fazem sons. Guardo a memória de cada jeitinho, cada forma de se comportar em cena quando contavam as estórias. Percebi, novamente (já havia percebido com os cegos), a aptidão e a fluência no ato de contar estórias. E, agora, havia certas especificidades. As estórias eram organizadas em quadros. Perdiam a linearidade, o que era muito interessante! Eles criavam saltos: estavam no ponto de ônibus e de repente na cozinha de casa. Nesta lingua tão enigmática para mim, encontrei o eixo do trabalho com os surdos do CAS. Eu via a poética dos corpos dos surdos envolvidos com um imaginário, com a memória de uma experiência, com a fala endereçada
ao outro.
Alguns participantes não eram bem versados em Libras, estavam ainda em processo de aprendizagem, o que trazia impasses para a leitura das estórias. Impasses que se revelavam interessantes, porque imprimiam vácuos de sentido, fissuras, puros locus performativos da linguagem corporal, espaços para as adivinhações, as não-compreensões, os enganos. Algumas estórias eram grandes e eles se envolviam de fato com o que falavam. E eu cada vez mais encantada com a performatividade dos corpos envolvidos. Um dos rapazes (não estou citando nomes porque não cheguei a ter familiaridade com seus nomes ou com seus sinais) tem a orelha rasgada; tinha certa dificuldade de colocar-
se como propositor. Iasmym falava algo com ele (em sinais), e ele repetia exatamente o que ela dizia. Talvez por estar acostumado a um processo de aprendizagem onde deve repetir a imagem corporal dos sinais. Foi difícil faze-lo compreender que deveria criar e contar uma estória. Um dos participantes interferiu: apontou para a sua orelha e pediu para que contasse o que aconteceu. Então ele contou a estória de uma mordida de cachorro. Este menino ri muito. Tem uma risada é deliciosa; é extremamente carinhoso e alegre. Isto traz uma especificidade para tudo o que produz em cena. Uma menina, tem uma espécie de paralisia em uma das mãos e isso faz com que ela produza os sinais de forma bastante especial. Com um acento ritmico fascinante e um estalo com a lingua para pontuar as frases, ela contou a estória da mãe que também é surda. Um dos rapazes, muito alto e desenvolto, contava estórias imensas, com uma riqueza de detalhes incrível. Poderia ficar em cena sozinho durante uma, duas horas, tranquilamente, contando suas estórias de vida, como se arrumava para os encontros e o que acontecia nas baladas. Ele revivia cada momento, ali, conosco, alternando sinais e sinalizadores. Seu corpo muito magro e comprido, imprimia em cada classificador uma expressão singular. E foi assim que comecei a perceber a singularidade também em um corpo descritivo, ou seja, na reprodução dos classificadores, misturado ao mar de performatividade da Libras. Iasmyn traduzia as estórias para o português oral e pedi para ela não interpretar. Ou seja, pelo que percebo (trata-se de uma percepção ingênua e não de um estudo ou análise bem fundamentados) o surdo, para contextualizar uma frase, vai por etapas. E o intérprete faz uma espécie de síntese da ideia quando traduz para o português. Ou seja, ele “alisa” (Sarrazac, 2002) a fragmentação da linguagem de sinais, colocando as proposições de ligação, etc. Eu pedi para Iasmyn traduzir as etapas sem a síntese, para que a fragmentação fosse impressa também na linguagem oral da tradução. A fragmentação é poética, é performativa. De modo que foi possível perceber a potência perfirmativa dos corpos, dos sinais, dos classificadores, da personalidade de cada um impressa em cena, sua subjetividade, sua relação com as estórias que contam quando eles se envolvem com uma narrativa que porta a a sua memória de vida, experiência e uma série de afetos. O work-in-progress No Fio da Vida foi apresentado no CAS Vitória na 11ª Semana do Surdo no dia 11 de setembro de 2019.
III.
Questões estruturais
Eu me apaixonei por cada um deles. Foi extremamente emocionante e frustrante ao mesmo tempo, por estar sempre dependendo de alguém para falar com eles. Alguns sinais eu aprendi, mas muito da comunicação era através de olhares, mímica e da própria vontade de estar junto. Sinto que poderia ter ido mais fundo se soubesse sua lingua. O fato de alguns alunos do CAS não dominarem a Libras, trouxe dificuldades para a própria Iasmyn. Muitas vezes os próprios participantes surdos não entendiam. Nos deparamos com a experiência viva da angústia da não comunicação que ronda a vida destas pessoas. Isto só atesta a profunda necessidade da implantação de Libras como disciplina escolar. Como o Inglês é ensinado na escola, a Libras também deveria estar no curriculo escolar. Percebemos, em conversas com professores do CAS e através de nossas observações, como é importante um trabalho formativo para os surdos desde o início da infância. Muitos chegam tarde no CAS. Não vi crianças pequenas no CAS. Fica a encargo da família, muitas vezes sem recursos; muitas vezes eles ficam sozinhos, isolados. A formação muitas vezes está sendo iniciada ali, no CAS. É preciso um papel ativo do estado e da sociedade civil para o amparo e uma boa formação destes meninos. Só assim conquistarão a autonomia de ação e pensamento. Alguns mais, outros menos, mas vimos garotos bastante apartados do mundo, o que só comprova a importância do trabalho do CAS e de políticas publicas para assistir as famílias. A experiência no CAS nos mostrou, também, que não devemos generalizar qualquer tipo de abordagem sobre o ensino da arte para surdos. Os surdos no CAS são diferentes dos surdos na UFES e acredito que diferentes dos surdos de outros lugares. As experiências com cegos, surdos e cadeirantes testemunham a contingência de cada processo e a singularidade de cada grupo com o qual trabalhamos.
Referências bibliiográficas
BERNARDINO, E. A. O uso de classificadores na Lingua Brasileira de Sinais. ReVEL, v. 10, n. 19, 2012. SARRAZAC, J. P. O Futuro do Drama. Porto, Campo das Letras, Ed. 1ª, 2002.