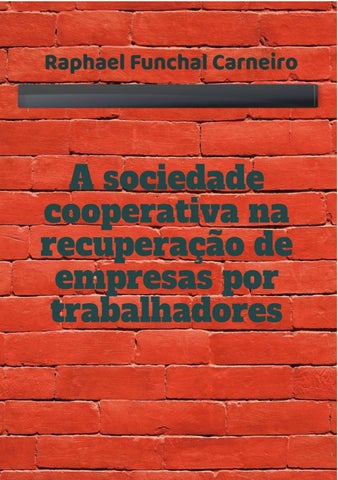34 minute read
4. Serviço terceirizado
O cooperado pode requer o reconhecimento judicial da prestação de serviços e o pagamento de direitos sujeitos à incidência de contribuição previdenciária, hipótese em que o juiz determinará o imediato recolhimento das importâncias devidas à Seguridade Social, na forma do artigo 43 da lei 8.212/91. No Recurso Extraordinário nº 595.838/SP (Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, Julgamento em 23/04/2014, publicação em 08/10/2014 – Tema 166 repercussão geral) o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do artigo 22 da lei nº 8.212/91, com a redação dada pela Lei nº 9.876/99, visto que ao instituir contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura, extrapolou a norma do artigo 195, inciso I, alínea a, da Constituição Federal, descaracterizando a contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
4. Serviço terceirizado
Advertisement
A terceirização ocorre por meio da descentralização produtiva ou administrativa das empresas que passam a concentrar suas atividades no negócio principal, contratando
211
outras empresas para prestar serviços especializados, visando o aumento de sua produtividade. É uma forma lícita de prestação de serviço como disposto no artigo 4º-A da lei 6.019/74. Como decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF (Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, julgamento em 30/08/2018), “é lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. Isto porque, como dito na ementa do acórdão “a terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos
212
previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações”. O que ocorria antes dos referidos julgados do Supremo Tribunal Federal é que a súmula de jurisprudência nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho, continha uma premissa de que a terceirização configurava invariavelmente uma fraude, e que, portanto, seria ilegal a contratação de trabalhadores por empresa interposta, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (lei nº 6.019/74), conforme artigos 2º e 9º da Consolidação das Leis Trabalhistas. O Ministro LUIZ FUX concluiu no seu voto proferido no Recurso Extraordinário com repercussão geral nº 958.252/MG, julgado em conjunto com a ADPF nº 324/DF, que “mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa. A Súmula nº. 331 do TST é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB). Por conseguinte, até o advento das referidas leis, em 31 de março e 13 de julho
213
de 2017, respectivamente, reputam-se hígidas as contratações de serviços por interposta pessoa, na forma determinada pelo negócio jurídico entre as partes. A partir do referido marco temporal, incide o regramento determinado na nova redação da Lei n.º 6.019/1974, inclusive quanto às obrigações e formalidades exigidas das empresas tomadoras e prestadoras de serviço”. Portanto, a partir da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal a princípio toda forma de terceirização de serviços é válida, inclusive quando os serviços forem prestados por cooperativas de trabalho. Somente na hipótese de utilização de cooperativa de trabalho para intermediação de mão de obra subordinada é que ocorre a fraude a legislação trabalhista (art. 2º e 9º da CLT), tornando inválida a terceirização para reconhecer a relação de emprego. Deste modo, a terceirização de serviços mediante a contratação de sociedade cooperativa não configura vínculo empregatício do associado com o tomador de serviços, na forma do parágrafo único do artigo 442 da CLT (TST-RR205000-62.2009.5.02.0434, Rel. Min. CAPUTO BASTOS, 4ª Turma, julgamento em 14/11/2018), mas este responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas referentes ao
214
período em que ocorrer a prestação de serviços, e o recolhimento das contribuições previdenciárias observará o disposto no artigo 31 da Lei no 8.212/91 (§ 5º do art. 5º-A da lei 6.019/74). Há uma relação bilateral: i) a primeira, de natureza civil, consubstanciada em um contrato de prestação de serviços, celebrado entre a contratante e a cooperativa terceirizada, denominada contratada; ii) a segunda, de natureza cooperativista, caracterizada pelo ato cooperativo entre a sociedade cooperativa contratada e o associado. A responsabilidade subsidiária tem caráter acessório ou suplementar, de modo que há uma ordem a ser observada na cobrança da dívida, na qual o devedor subsidiário só pode se acionado após a dívida não ter sido totalmente adimplida pelo devedor principal, que é a sociedade cooperativa terceirizada. Trata-se de uma forma de fomentar a criação de postos de trabalho, na medida em que a contratação de cooperativas de trabalho para a prestação de serviços terceirizados acarreta por um lado uma redução dos encargos da tomadora de serviços, e por outro lado garante os direitos mínimos do trabalhador (art. 7º e 8º da lei 12.690/12), de modo que não há a precarização da relação de trabalho.
215
Inclusive o artigo 5º-C da lei 6.019/74 diz que não pode figurar como contratada a pessoa jurídica prestadora de serviços a terceiros cujos titulares ou sócios tenham, nos últimos dezoito meses, prestado serviços à contratante na qualidade de empregado ou trabalhador sem vínculo empregatício, exceto se os referidos titulares ou sócios forem aposentados, evitando a constituição de pessoa jurídica por exempregados com a finalidade exclusiva de extinguir os contratos de trabalho para firmar um contrato com a pessoa jurídica, e deste modo obter uma redução nos custos com mão de obra.
Como explica SERGIO PINTO MARTINS “o importante é que os cooperados prestem serviços pela cooperativa com total autonomia, isto é, sem subordinação” e “o ideal, portanto, é que o associado não os preste de maneira individualizada, pessoalmente, pois poderá ficar evidenciada a pessoalidade, caracterizando-se o vínculo de emprego, se estiverem presentes os demais requisitos do art. 3º da CLT” (A terceirização e o direito do trabalho, 2001, pág. 89).
216
Parte 2 – Empresas Recuperadas por Trabalhadores
217
1. Economia solidária
A globalização acirrou a concorrência entre empresas, de modo que estas passaram a buscar a maximização dos lucros e a minimização do custo do trabalho, o que provocou modificações nas relações de trabalho aumentando a massa de desempregados e marginalizados, fazendo surgir como reação a economia solidária composta por empreendimentos fundados no trabalho associado, em que a solidariedade, a cooperação e a autogestão constituem os seus elementos norteadores, objetivando fomentar o direito ao trabalho e a redução de desigualdades. Portanto, é uma forma de organização econômica que se contrapõe ao capitalismo moderno, baseada na busca pela melhoria da qualidade de vida dos associados, como uma possibilidade de complementação da renda e a manutenção do trabalhador no meio rural. São exemplos de empreendimentos de economia solidária os de produção de artesanato local, os bancos comunitários, de reciclagem, de agricultura familiar e outros. O objetivo é a valorização do trabalho e não do capital por meio da gestão coletiva dos meios de produção e da partilha dos resultados do trabalho.
218
Como diz PAUL SINGER “a solidariedade na economia só pode se realizar se ela for organizada igualitariamente pelos que se associam para produzir, comerciar, consumir ou poupar. A chave dessa proposta é a associação entre iguais em vez do contrato entre desiguais. Na cooperativa de produção, protótipo de empresa solidária, todos os sócios têm a mesma parcela do capital e, por decorrência, o mesmo direito de voto em todas as decisões. Este é o seu princípio básico. Se a cooperativa precisa de diretores, estes são eleitos por todos os sócios e são responsáveis perante eles. Ninguém manda em ninguém. E não há competição entre os sócios: se a cooperativa progredir, acumular capital, todos ganham por igual. Se ela for mal, acumular dívidas, todos participam por igual nos prejuízos e nos esforços para saldar os débitos assumidos” (Introdução à economia solidária, pág. 9). Para JOSÉ HENRIQUE DE FARIA a economia solidária é “um conjunto de empreendimentos que, em sua maioria, constituem resposta ao desemprego e uma forma alternativa de trabalho e renda. Em outros termos, trata-se de empreendimentos constituídos por sócios trabalhadores no interior do sistema de capital ou paralelo a ele, desenvolvendo atividades complementares às das empresas capitalistas”
219
(Autogestão, economia solidária e organização coletivista de produção associada: em direção ao rigor conceitual, pág. 642).
Já existem leis dispondo sobre as políticas municipais e estaduais de economia solidária, mas ainda não há em âmbito nacional lei dispondo sobre o assunto, visto que a matéria é objeto do projeto de lei nº 6606/2019 em trâmite no Congresso Nacional. Entretanto, o decreto nº 7.358/2010 institui o Sistema Nacional do Comércio Justo e Solidário – SCJS, dispondo sobre os empreendimentos solidários (art. 2º, inc. II). O artigo 3º da lei 8351/2019 do Estado do Rio de Janeiro considera como “compatível com os princípios da economia solidária as atividades de organização da produção e da comercialização de bens e de serviços, da distribuição, do consumo e do crédito, tendo por base os princípios da autogestão, da cooperação e da solidariedade, gestão democrática e participativa, a distribuição equitativa das riquezas produzidas coletivamente, o desenvolvimento local, regional e territorial integrado e sustentável, o respeito aos ecossistemas, a preservação do meio ambiente, a valoração do ser humano, do trabalho da cultura, com o estabelecimento de relações igualitárias entre diferentes”, e no artigo 5º considera
220
como “empreendimentos econômicos solidários aquelas organizações coletivas de caráter associativo e suprafamiliares, que realizarem atividades econômicas permanentes, cujos participantes são trabalhadores e trabalhadoras do meio urbano ou rural e exercem democraticamente a gestão das atividades e a alocação dos resultados”. A economia solidária tem como princípios básicos “a propriedade coletiva ou associada do capital e o direito à liberdade individual. A aplicação desses princípios une todos os que produzem numa única classe de trabalhadores que são possuidores de capital por igual em cada cooperativa ou sociedade econômica” (Paul Singer. Introdução à economia solidária, pág. 10). Dentre os objetivos da política de economia solidária estão: 1) contribuir para a concretização dos preceitos constitucionais que garantam aos cidadãos o direito a uma vida digna; 2) fortalecer e estimular o associativismo e o cooperativismo que se caracterize como empreendimento da economia solidária, atendendo ao §2º do artigo 174 da Constituição Federal; 3) contribuir para a geração de trabalho e renda melhoria da qualidade de vida e promoção da justiça
221
social; e 4) contribuir para a promoção do trabalho decente junto aos empreendimentos econômicos solidários. Como mecanismo para operacionalizar os referidos objetivos pode-se destacar o acesso ao crédito em bancos públicos ou em instituições de financeiras de caráter solidário, como as cooperativas de crédito e os bancos comunitários, visto que em muitos locais os empreendimentos solidários dependem de recursos públicos ou de recursos advindos de outras entidades sem fins lucrativos. Do mesmo modo a criação dos empreendimentos solidários deve ser desburocratizada, permitindo a sua legalização de forma simples e rápida. A tributação deve ser adequada de modo que haja uma redução de tributos e a concessão de benefícios. A implantação de núcleos e redes, de caráter local, regional e estadual, de assessoria técnica, gerencial, e acompanhamento aos empreendimentos econômicos solidários (art. 13, § 2º da lei 8351/19 do RJ), são de suma importância para que sejam superados os problemas de gestão e de participação dos associados que impedem o seu desenvolvimento. A cooperativa por sua natureza de sociedade de pessoas, de natureza civil, constituída por pessoas que
222
reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro, pode funcionar como um empreendimento de economia solidária em qualquer gênero de atividade, servindo os seus fundos para o implemento de políticas públicas na comunidade em que atua, beneficiando não somente seus associados mas também a população local. Inclusive surge como forma alternativa de produção por iniciativa de trabalhadores para suprir a perda dos seus postos de trabalho causada pela falência da empresa empregadora, ocorre o controle das fábricas pelos trabalhadores através da propriedade coletiva dos meios de produção, por meio do cooperativismo, mediante o pagamento dos direitos trabalhistas com bens das empresas em processo falimentar. Portanto, “a economia solidária deve ser vista como uma estratégia de enfrentamento da exclusão e da precarização do trabalho, sustentada em formas coletivas de geração de trabalho e renda, e articulada aos processos de desenvolvimento local participativo e sustentável. Nesse sentido, tem tudo a ver com uma Empresa Recuperada por Trabalhadores e Trabalhadoras, especialmente se eles optarem
223
por transformá-la em uma cooperativa” (Empresas recuperadas por trabalhadores e trabalhadoras: cooperativismo em tempos de crise, pág. 15).
2. Direito de solidariedade
Solidariedade significa que os problemas de uma comunidade devem ser enfrentados de modo a que os custos e as responsabilidades sejam distribuídos com justiça, de acordo com os princípios fundamentais da equidade e da justiça social, fazendo com que os menos beneficiados sejam ajudados pelos que se beneficiam mais. Portanto, é um valor compartilhado por todas as pessoas que expressa a preocupação com o bemestar de seus semelhantes. A Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece no artigo 1º que “todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade”. Como explicou a Ministra NANCY ANDRIGHI do Superior Tribunal de Justiça no voto proferido no recurso especial 1.026.981/RJ “a defesa dos direitos em sua plenitude deve, portanto, assentar em ideais de fraternidade e solidariedade, não podendo o Poder Judiciário esquivar-se de ver e de dizer o novo”.
224
Trata-se não só de aliviar o sofrimento dos menos favorecidos, mas também de eliminar os obstáculos e dificuldades que impedem a sua participação na sociedade como seres humanos, de modo que não se limita a assistência e a caridade, mas consiste na distribuição equitativa dos benefícios e ônus como forma de erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Como explica RICARDO LOBO TORRES “a solidariedade influencia a liberdade na medida em que estabelece o vínculo de fraternidade entre os que participam do grupo beneficiário de prestações positivas, máxime as relacionadas com os mínimos sociais e com os direitos difusos” e “se aproxima da justiça por criar o vínculo de apoio mútuo entre os que participam dos grupos beneficiários da redistribuição de bens sociais. A justiça social e a justiça distributiva passam pelo fortalecimento da solidariedade” (Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário –valores e princípios constitucionais tributários, 2005, pág. 182/183). Na Constituição Federal de 1988 aparece como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de construir uma sociedade livre, justa e solidária. Como explicou
225
a Ministra CÁRMEN LÚCIA do Supremo Tribunal Federal no voto proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.649/DF “o princípio constitucional da solidariedade tem, pois, no sistema brasileiro, expressão inegável e efeitos definidos, a obrigar não apenas o Estado, mas toda a sociedade. Já não se pensa ou age segundo o ditame ‘a cada um o que é seu’, mas a ‘cada um segundo a sua necessidade’, e a responsabilidade pela produção destes efeitos sociais não é exclusiva do Estado, mas sim, de toda a sociedade”. A solidariedade foi considerada na Declaração do Milênio das Nações Unidas (aprovada na Cimeira do Milênio –realizada de 6 a 8 de Setembro de 2000, em Nova Iorque), como valor fundamental essencial para as relações internacionais no século XXI. O direito de solidariedade é um direito humano em virtude do qual todas as pessoas têm o direito de viver com dignidade e liberdade, beneficiando-se de uma sociedade justa e igualitária em que podem ser plenamente exercidos todos os direitos e liberdades fundamentais, sem distinção de raça, cor, sexo, orientação sexual e religiosa, nacionalidade, idioma, origem étnica, situação familiar, econômica ou social, nível de
226
escolaridade ou convicções políticas. Tem como base a dignidade da pessoa humana. Como exemplo de direito de solidariedade reconhecido em instrumento internacional de direitos humanos está o direito ao desenvolvimento, que se encontra consagrado na Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, adotada pela Resolução n.º 41/128 da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 4 de dezembro de 1986, que no seu artigo 8º diz que os Estados devem adotar, em nível nacional, todas as medidas necessárias para a realização do direito ao desenvolvimento, e devem assegurar, entre outros, a igualdade de oportunidade para todos no acesso aos recursos básicos, a educação, aos serviços de saúde, a alimentação, a habitação, ao emprego e a distribuição equitativa da renda. Medidas efetivas devem ser tomadas para assegurar que as mulheres tenham um papel ativo no processo de desenvolvimento. Reformas econômicas e sociais apropriadas devem ser efetuadas com vistas à erradicação de todas as injustiças sociais. O direito ao desenvolvimento está de acordo com o artigo 3º, inciso II e com o artigo 170 da Constituição Federal, segundo o qual a ordem econômica deve estar fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tendo por
227
fim assegurar a existência digna a todos, conforme os ditames da justiça social, e observados, dentre outros, os princípios da redução das desigualdades regionais e sociais e da busca do pleno emprego. Como explica José Antonio Remedio “a adoção e a implementação de políticas públicas pelo Estado brasileiro, objetivando a redução das desigualdades sociais, são exemplos de realização de inclusão social e de justiça social aplicáveis por meio do princípio da solidariedade”, visto que “a justiça social é indissociável da ideia de solidariedade e ao princípio da solidariedade, na medida em que a solidariedade cria um vínculo mútuo entre o Estado, os detentores de riquezas e as pessoas ou grupos beneficiários da redistribuição dos bens sociais” (Os direitos de solidariedade, o princípio da solidariedade, a solidariedade social e a filantropia como instrumentos de inclusão social, pág. 262). Como visto anteriormente a economia solidária gera trabalho e renda, desenvolve economicamente e socialmente as pessoas e o território, preservando o meio ambiente, o trabalho decente e digno, o comércio justo e promove a emancipação das pessoas, de modo que as leis que instituem as políticas públicas de economia solidária consagram o princípio da
228
solidariedade ao materializar poderes de titularidade coletiva (STF-ADI nº 1.856/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, Data de julgamento: 26/05/2011, DJe 14/10/2011).
3. Processo de recuperação da empresa pelos trabalhadores 3.1. Aspectos gerais
As empresas recuperadas por trabalhadores é uma realidade não só no Brasil, mas também em outros países da América Latina, como a Argentina e Uruguai, da Europa, como a Itália e a França, bem como no México e nos Estados Unidos, e surgiu como movimento dos trabalhadores para manter ou recuperar o trabalho perdido em virtude da paralisação das atividades da empresa empregadora, seja pela falência ou simplesmente pelo mero encerramento das atividades em virtude de situação de crise econômica. Na Itália a lei nº 49/85, conhecida como Legge Marcora, permite que os trabalhadores escolham a opção de recuperar a fábrica e a produção assim que os proprietários tomarem a decisão de falência, evitando longos períodos de licitações, negociações e desemprego, visto que os trabalhadores podem comprar a empresa com recursos próprios e verbas rescisórias, utilizando-se dos instrumentos de financiamento criados para o fomento das cooperativas
229
formadas por trabalhadores que perderam seus empregos ou funcionários de empresas em crise ou sujeita a processo de falência. Como medida para ajudar a resolver crises corporativas e defender o emprego foi aprovado, na Itália, o Decreto-lei 145 de 23 de dezembro de 2013, que no artigo 11 estabelece o direito de preferência pelo aluguel ou pela compra, no caso de locação ou venda de empresas, filiais de empresas ou complexos de ativos e contratos de empresas sujeitas à falência, às sociedades cooperativas compostas por funcionários da empresa. Na Argentina a lei 13.710 instituiu o regime de proteção e apoio as empresas recuperadas por trabalhadores, com o propósito de conservar as fontes de produção e de trabalho que se encontrem em funcionamento ou em processo de reativação, possibilitando a recuperação da empresa por parte de seus trabalhadores, e declarando de interesse social o processo de recuperação de empresas por seus trabalhadores, como possível sujeito continuador da exploração da empresa em processo de quebra privilegiando os bens necessários para tal fim, sendo que a lei argentina nº 13.828/08 já havia criado um fundo especial de recuperação de fábricas.
230
Deste modo a denominação empresa recuperada por trabalhadores está ligada ao objetivo dos funcionários de recuperar os seus postos de trabalho por meio da continuidade do funcionamento da empresa, reativando a sua produção mediante a gestão coletiva dos meios de produção sob a forma jurídica de uma cooperativa ou outra forma de associação. São características das empresas recuperadas por seus trabalhadores sob a forma de cooperativas de trabalho: a autogestão; a defesa de suas ações com base nos valores da solidariedade, cooperação, equidade, igualdade e responsabilidade; a participação econômica de seus membros e distribuição de renda em função dos resultados; a gestão democrática mediante procedimentos democráticos internos de tomada de decisões; preferência do trabalho sobre o capital; e a autonomia e independência. A recuperação de empresas “tem o condão de evitar perdas que afetam diretamente não só os que consumiam seus produtos e viviam da venda de bens e serviços produtivos e de outras naturezas à antiga firma, mas também aos que usufruíam os efeitos externos que qualquer empreendimento econômico irradia no bairro, na cidade e no país em que suas atividades
231
têm lugar” (Empresas Recuperadas por Trabalhadores no Brasil, 2013, pág. 11). Se dá por meio de uma aquisição ou resgate de uma empresa convencional pelos seus funcionários, ocorrendo um processo de reestruturação societária, resgate ou conversão, em que os empregados adquirem a propriedade de toda a empresa que os emprega ou de parte dela, inclusive em uma cisão ou aquisição de uma subsidiária. Para o sucesso do empreendimento é necessário que os trabalhadores acreditem no projeto e no valor social de sua iniciativa, participando no processo de tomada de decisões, tendo vontade e disposição de participar do risco do negócio e de partilhar objetivos comuns. Como explica MARIA ALEJANDRA PAULUCCI na estratégia de recuperar a empresa “no primeiro momento, as/os trabalhadoras/es adotam uma atitude defensiva, com o principal objetivo de preservar seus empregos frente à falência ou préfalência da empresa onde trabalham. Esta solução não nasce com o intuito de transformar a realidade social ou como uma atitude ofensiva contra o capital, senão simplesmente como fim estratégico. No segundo momento, o processo de recuperação converte-se em um ato que envolve uma nova proposta de ação coletiva e movimento social, com inovações sociais em um
232
contexto adverso. Perante o desafio de administrar as unidades produtivas, as/os trabalhadoras/es buscam apoio e estabelecem alianças e parcerias com outros atores sociais, tais como dirigentes políticos e sindicais, pesquisadores, e inclusive pessoas da sociedade civil. Deste modo, o objetivo inicial de preservar os postos de trabalho como alternativa ao desemprego ganharia progressivamente um significado político ligado a uma proposta de democratização das relações sociopolíticas e econômicas, e onde as praticas autogestionarios e formação de cooperativas surge como estratégia central para dar continuidade aos empreendimentos” (A luta pelo direito ao trabalho nas empresas recuperadas pelos/as trabalhadores/as no Brasil e na Argentina, pág. 69/70).
Podem ser objeto de recuperação pelos trabalhadores a empresa, qualquer que seja a sua forma de organização societária, e os estabelecimentos (art. 1.143 do CC), que cessem as atividades por falência ou encerramento irregular (abandono e esvaziamento patrimonial), ou que não tendo encerrado suas atividades estejam em situação de crise econômico financeira sujeita a recuperação judicial ou extrajudicial.
233
No caminho para a recuperação os trabalhadores devem contar com o apoio dos sindicatos nas negociações (art. 8º, inc. III da CRFB/88 e art. 514, parágrafo único, al. a, da CLT), das organizações sociais e dos grupos de movimentos para reforças a legitimidade do conflito, do Poder Público para a obtenção de financiamentos e de recursos dos fundos de fomento a economia solidária, das estruturas do setor cooperativo, como as cooperativas centrais ou das federações cooperativas para a prestação de assistência técnica, das cooperativas de crédito e das demais sociedades financeiras privadas para obtenção de financiamento privado em condições mais acessíveis. Isto porque, em muitos casos a luta dos trabalhadores não se dá diretamente com o empregador, que pode desaparecer depois do processo de esvaziamento ou precarização da empresa que encerra suas atividades as vezes de forma fraudulenta, mas contra os mecanismos previstos na legislação para a liquidação dos bens (RUGGERI, Andrés (Org.), Las empresas recuperadas: autogestión obrera em Argentina y América Latina, 2009, pág.15), tendo em conta que não há o direito de preferência para os credores trabalhistas em alugar ou comprar as empresas sujeitas à falência, nem há o interesse social no processo de recuperação de empresa pelos
234
trabalhadores, o que dificulta a sua aquisição para reativação das atividades. O apoio do Poder Público local pode ser decisivo quando os créditos trabalhistas reconhecidos no processo falimentar não forem suficientes para a aquisição da empresa ou de parte dela, sendo necessária a intervenção estatal para a conservação dos bens em favor dos trabalhadores organizados em cooperativa de trabalho, especialmente quando há ação possessória em trâmite reivindicando a reintegração de posse da fábrica ocupada (art. 560 do CPC), hipótese em que pode ser manejada a desapropriação por interesse social do imóvel onde funciona a empresa para posterior venda ou locação para a cooperativa que lhe dará a destinação social (art, 2º, inc. I e art. 4º da lei 4.132/62), que é a continuidade das atividades produtivas com manutenção e geração de emprego. Na Argentina a Ley de concursos e quebras (ley 24.522) foi modificada em 30 de junho de 2011 pela lei 26.684, para reconhecer o interesse do grupo de trabalhadores nos processos falimentares de modo a possibilitar a aquisição da empresa pelos trabalhadores reunidos em uma cooperativa de trabalho, como se verifica, dentre outros, nos artigos 19, 48 bis, 187, 189, 191, 191 bis, 192, 195, 203 bis, 205, e 213.
235
O processo de recuperação de empresas pelos seus trabalhadores se desenvolve em diferentes etapas: 1) se inicia com um conflito coletivo onde os trabalhadores podem ocupar, acampar fora da unidade de produção, negociar diretamente ou judicialmente, ou tomar diferentes medidas em defesa de seus postos de trabalho; 2) prossegue com a resolução dos problemas legais, como a constituição da cooperativa de trabalho para a aquisição da empresa, a compra ou arrendamento das instalações físicas, a compra, arrendamento ou usufruto de maquinário colocando-os para funcionar, a busca de capital de giro inicial que permita a reativação por meio de financiamentos públicos ou privados, a compra de matéria-prima e a colocação dos produtos no mercado; e 3) e termina com o começo da produção das unidades já recuperadas. Embora o fenômeno de recuperação de empresas por seus trabalhadores já ser uma realidade no Brasil ainda não há uma lei específica tratando do assunto, de modo que os mecanismos legais para operacionalizar a aquisição da empresa pelos funcionários são os constantes da lei 11.101/05, que oferece algumas alternativas viáveis, tanto para as empresas em
236
situação de crise econômico-financeira (art. 47) como para aquelas em situação de insolvência (art. 94). Conforme dispõe a lei 11.101/05, os créditos derivados da legislação trabalhista, limitados a 150 (cento e cinquenta) salários-mínimos por credor, e aqueles decorrentes de acidentes de trabalho, são classificados na falência em primeiro lugar na ordem de pagamento, sendo que os saldos destes créditos que excederem o limite estabelecido são considerados como créditos quirografários (artigo 83, inc. I, e VI al. c, e art. 149), sendo pagos somente após a realização dos créditos gravados com direito real de garantia e dos créditos tributários, o que pode dificultar a aquisição da empresa pelos trabalhadores, visto que estes credores podem ser opor a forma alternativa de realização do ativo e preferir a alienação dos bens arrecadados em leilão para satisfazer seus créditos (art. 38, 42 e 145). Inicialmente os créditos trabalhistas devem estar habilitados nos processos de recuperação judicial ou de falência para sua verificação e inclusão no quadro-geral de credores para fins de rateio na falência e discriminação dos meios de recuperação, sendo que na petição inicial de recuperação judicial deve constar a relação integral dos
237
empregados, com as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores pendentes de pagamento (art. 7°, 16 e 51, inc. IV, da lei 11.101/05). É possível a realização do processo de recuperação da empresa pelos trabalhadores tanto na recuperação extrajudicial como na judicial, inclusive por meio dos instrumentos de autocomposição, bem como na falência. Para tanto deve ser considerado no momento de iniciar o processo de recuperação: (a) o fechamento da empresa ou de parte de suas unidades; (b) se um grupo de funcionários foi ou será demitido devido ao fechamento de um negócio; (c) a oferta de parte ou da totalidade da empresa aos funcionários por seus proprietários; e (d) a constituição de uma sociedade cooperativa de trabalho (art. 6º da lei 12.690/12) por sete trabalhadores da empresa empregadora em fechamento.
3.2. Na recuperação extrajudicial
A partir da reforma promovida pela lei 14.112/20202 na lei 11.101/05, estão sujeitos à recuperação extrajudicial os créditos de natureza trabalhista e por acidentes de trabalho mediante negociação coletiva com o sindicato da respectiva categoria profissional (art. 161, § 1º c/c art. 8º, inc. VI da
238
CRFB/88), de modo que o devedor que preencher os requisitos para a recuperação judicial (artigo 48) poderá propor e negociar com credores plano de recuperação extrajudicial para ser homologado pela justiça. Deste modo, a empresa em situação de crise e seus trabalhadores podem chegar direta e extrajudicialmente a uma composição para a resolução de conflitos decorrentes da relação de trabalho mediante o processo democrático da negociação coletiva (Instituições de direito do trabalho. Volume II, 2003, pág. 1182). Quando for necessário negociar o passivo trabalhista para que a empresa possa superar a situação de crise econômico-financeira, e havendo disposição por parte de alguns funcionários em encerrar seus contratos de trabalho para constituir uma cooperativa e desta forma adquirir ou arrendar um estabelecimento da empregadora, uma subsidiária, ou bens suficientes para início da produção mediante dação em pagamento (art. 50, incs. VII e IX da lei 11.101/05), é possível a formulação de acordo coletivo com o sindicato representativo dos funcionários (art. 617 da CLT) para propor o plano de recuperação extrajudicial.
239
Neste caso, a negociação coletiva conterá o acordo referente ao pagamento dos créditos trabalhistas devidos mediante o trespasse do estabelecimento ou a dação em pagamento de bens que integrará o plano a ser submetido a homologação judicial, e para que tenha êxito deverá contar com a assinatura dos credores que a ele aderirem (art. 162 e 163 caput e § 1º da lei 11.101/05).
3.3. Na recuperação judicial
Quando o empregador devedor pede a recuperação judicial também é possível a recuperação da empresa pelos trabalhadores quando conste do plano de recuperação judicial a venda integral da empresa ou a cessão das cotas ou ações, o trespasse ou arrendamento de estabelecimento à sociedade constituída pelos próprios empregados, a dação de bens em pagamento dos créditos trabalhistas ou a venda parcial de bens (art. 50, inc. II, VII, IX, XI e XVIII da lei 11.101/05). Também é possível nos casos de venda de parte da empresa, como de subsidiárias ou da empresa cindida após a cisão parcial realizada na forma prevista no plano de recuperação (art. 50, inc. II, da lei 11.101/05 c/c art. 229 da lei 6.404/76).
240
Nestas hipóteses os trabalhadores poderão se utilizar de seus créditos trabalhistas, do FGTS, ou mediante a obtenção de financiamento por instituição financeira pública ou privada, para adquirir a totalidade da empresa ou parte dela, e assim mediante a constituição de uma cooperativa de trabalho dar continuidade à atividade econômica desenvolvida. A aquisição das filiais ou unidades produtivas isoladas do devedor, que poderá abranger bens, direitos ou ativos de qualquer natureza, tangíveis ou intangíveis, isolados ou em conjunto, incluídas participações dos sócios, na alienação judicial, fica livre de qualquer ônus e não haverá sucessão nas obrigações do devedor de qualquer natureza, incluídas, mas não exclusivamente, as de natureza ambiental, regulatória, administrativa, penal, anticorrupção, tributária e trabalhista (art. 60, 60-A, § 1º do art. 141 e 142 da lei 11.101/05). Diferentemente da recuperação extrajudicial na recuperação judicial não há a necessidade de negociação coletiva visto que as aquisições se realizam sobre a tutela do juízo falimentar, bastando a participação do sindicato dos trabalhadores como representantes dos seus associados titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes
241
de acidente de trabalho que não comparecerem, pessoalmente ou por procurador, à assembleia (art. 37 § 5º, da lei 11.101/05). Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, como os veículos, maquinário e imóveis, salvo com autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial (art. 66 da lei 11.101/05), cabendo ao representante dos trabalhadores fiscalizar o cumprimento desta proibição e no caso de violação informar ao administrador judicial ou ao juiz. O deferimento do processamento da recuperação judicial (art. 6º, inc. I, II, III e § 4º c/c art. 52 da lei 11.101/05), acarreta a suspensão da prescrição das obrigações e das execuções judiciais contra o devedor, bem como a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial, pelo prazo prorrogável de 180 (cento e oitenta) dias, como medida preventiva para assegurar o futuro cumprimento do plano de recuperação judicial e a concessão da recuperação,
242
evitando a expropriação dos bens em execuções individuais em curso em diversos juízos. Durante o procedimento de recuperação judicial, o devedor ou seus administradores são mantidos na condução da atividade empresarial, de modo que os trabalhadores devem fiscalizar a ocorrência de qualquer das condutas elencadas no artigo 64 da lei 11.101/05, podendo pleitear ao juiz o afastamento do devedor quando necessário para preservar o patrimônio da empresa e a própria viabilidade econômica da continuidade das suas atividades. Aprovado o plano pela assembleia geral de credores, que implica novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, o juiz concederá a recuperação judicial, podendo determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencerem até, no máximo, 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial, independentemente do eventual período de carência. A partir deste momento o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência (art. 56-A, 57, 59, 61 e 73 da lei 11.101/05), hipótese
243
em que os trabalhadores poderão adquirir a empresa ou seus bens na forma do artigo 145 da lei falimentar. Os trabalhadores também podem obter um acordo com a empresa empregadora devedora por meio da conciliação e mediação de forma antecedente ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial, em procedimento de mediação ou conciliação instaurado perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) do tribunal competente, na hipótese de negociação das dívidas trabalhistas em que a forma de pagamento pode consistir na dação da bens ou no trespasse ou arrendamento do estabelecimento para a cooperativa de trabalho constituída pelos funcionários (art. 20-B, inc. IV, da lei 11.101/05). A fim de preservar os bens e assegurar a possibilidade deste acordo a devedora pode obter tutela de urgência cautelar, nos termos do artigo 305 e seguintes do Código de Processo Civil, a fim de que sejam suspensas as execuções contra ela propostas pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, observados, no que couber, os artigos 16 e 17 da lei nº 13.140/15.
3.4. Na falência
Como explicitado no § 2º do artigo 75 da lei 11.101/05 “a falência é mecanismo de preservação de benefícios
244
econômicos e sociais decorrentes da atividade empresarial, por meio da liquidação imediata do devedor e da rápida realocação útil de ativos na economia”, visto que este não possui mais condições econômico-financeiras de se recuperar. Entretanto, é possível a preservação e a otimização da utilização produtiva dos seus bens, ativos e recursos produtivos, inclusive os intangíveis, da empresa falida. Na hipótese de falência pode ocorrer o encerramento anterior das atividades da empresa em razão do agravamento da situação de insolvência ou a empresa pode estar funcionando mas com dificuldades, sendo que o estabelecimento deverá ser lacrado por determinação judicial sempre que houver risco para a execução da etapa de arrecadação ou para a preservação dos bens da massa falida ou dos interesses dos credores (art. 99, inc. XI c/c art. 109 da lei 11.101/05). A etapa de arrecadação dos bens da falida é de fundamental importância para que estes sejam conservados ou colocados à disposição da massa, imediatamente, mediante alienação antecipada e adjudicação nas hipóteses de risco de perecimento ou desvalorização (art. 108, 111 e 113 da lei 11.101/05). Desta forma, conservam-se os maquinários e as
245
instalações físicas necessários para a futura reativação das atividades. Na hipótese de ocupação da empresa pelos trabalhadores que tentam dar continuidade as atividades, o juiz pode nomear um representante da categoria para ficar como depositário de modo a viabilizar o futuro processo de recuperação. A continuação provisória das atividades do falido com o administrador judicial deve ser decidida pelo juiz na sentença de decretação da falência, devendo observar o que melhor atende aos interesses dos credores. Deste modo, o administrador pode dar continuidade imediata ao funcionamento da empresa ou de qualquer um dos seus estabelecimentos, se a interrupção das atividades puder resultar em grave prejuízo aos interesses dos credores e à preservação do patrimônio, bem como para a conservação dos postos de trabalho, especialmente quando os credores trabalhistas, organizados em cooperativa, ainda que em constituição, solicitarem ao juiz, para posterior aquisição da empresa ou de parte dela. Cabe ao juiz avaliar a situação econômica da empresa devedora e a viabilidade financeira e produtiva da continuidade das atividades pelos trabalhadores, conforme proposta
246
apresentada por estes e analisada por especialistas, para decidir sobre a continuidade provisória ou sobre a interrupção das atividades quando a solução for apenas a alienação dos bens para satisfação dos credores. Logo após a arrecadação dos bens, com a juntada do respectivo auto ao processo de falência, será iniciada a realização do ativo por uma das formas e nas modalidades elencadas nos artigos 140 e 142 da lei 11.101/05, sendo que o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor. Uma das formas é a alienação da empresa, com a venda de suas filiais ou unidades produtivas isoladamente, que pode atender aos interesses dos ex-funcionários demitidos anteriormente ao pedido de falência que eventualmente tenham recebidos suas indenizações e disponham de recursos para adquirir as unidades e assim continuar com a exploração do negócio, especialmente quando se tarte de funcionários de chão de fábrica que conhecem o dia a dia do seu funcionamento. Isto porque, a falência por si só não acarreta a extinção do contrato de trabalho, na forma do artigo 117 da lei 11.101/05, de modo que podem existir duas classes de trabalhadores interessados na aquisição da empresa, que são os
247
funcionários já demitidos e aqueles que ainda estão em atividade mas que possuem créditos trabalhistas a receber e temem pela perda do emprego. O artigo 144 da lei 11.101/05 diz que o juiz poderá autorizar, mediante requerimento fundamentado do administrador judicial ou do Comitê, outras modalidades de alienação judicial, quando houver motivos justificados, como a venda direta de bens à cooperativa de trabalho, no caso de continuação da exploração da atividade empresarial, quando pela natureza ou valor dos bens esta forma de alienação for de utilidade para o processo concursal. Também por deliberação da assembleia geral de credores, tomada nos termos do artigo 42 da lei 11.101/05, os credores trabalhistas poderão adjudicar os bens alienados na falência ou adquiri-los por meio da cooperativa de trabalho, com a participação, se necessária, dos atuais sócios do devedor ou de terceiros, ou mediante conversão de dívida em capital. Neste caso, para a aprovação da proposta os credores trabalhistas precisarão contar com o voto de alguns dos demais credores para atingir o quorum, como os com garantia real como os bancos, de modo que a participação do sindicato e das
248