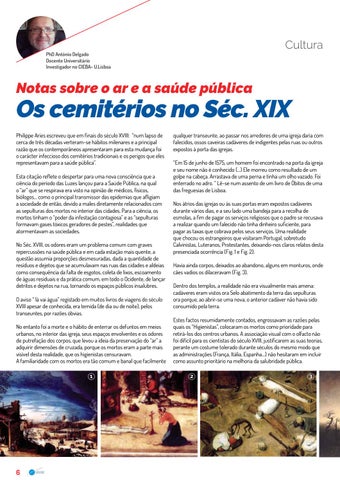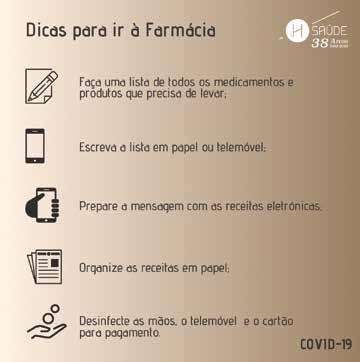Cultura
PhD António Delgado Docente Universitário Investigador no CIEBA- U.Lisboa
Notas sobre o ar e a saúde pública
Os cemitérios no Séc. XIX Philippe Aries escreveu que em finais do século XVIII: “num lapso de cerca de três décadas verteram-se hábitos milenares e a principal razão que os contemporâneos apresentaram para esta mudança foi o carácter infeccioso dos cemitérios tradicionais e os perigos que eles representavam para a saúde pública”. Esta citação reflete o despertar para uma nova consciência que a ciência do período das Luzes lançou para a Saúde Pública, na qual o “ar” que se respirava era visto na opinião de médicos, físicos, biólogos… como o principal transmissor das epidemias que afligiam a sociedade de então, devido a males diretamente relacionados com as sepulturas dos mortos no interior das cidades. Para a ciência, os mortos tinham o “poder da infestação contagiosa” e as “sepulturas formavam gases tóxicos geradores de pestes”, realidades que atormentavam as sociedades. No Séc. XVIII, os odores eram um problema comum com graves repercussões na saúde pública e em cada estação mais quente, a questão assumia proporções desmesuradas, dada a quantidade de resíduos e dejetos que se acumulavam nas ruas das cidades e aldeias como consequência da falta de esgotos, coleta de lixos, escoamento de águas residuais e da prática comum, em todo o Ocidente, de lançar detritos e dejetos na rua, tornando os espaços públicos insalubres. O aviso “ lá vai água” registado em muitos livros de viagens do século XVIII apesar de conhecida, era temida (de dia ou de noite), pelos transeuntes, por razões óbvias. No entanto foi a morte e o hábito de enterrar os defuntos em meios urbanos, no interior das igreja, seus espaços envolventes e os odores de putrefação dos corpos, que levou a ideia da preservação do “ar” a adquirir dimensões de cruzada, porque os mortos eram a parte mais visível desta realidade, que os higienistas censuravam. A familiaridade com os mortos era tão comum e banal que facilmente 1
6
qualquer transeunte, ao passar nos arredores de uma igreja daria com falecidos, ossos caveiras cadáveres de indigentes pelas ruas ou outros expostos à porta das igrejas. “Em 15 de junho de 1575, um homem foi encontrado na porta da igreja e seu nome não é conhecido (...) Ele morreu como resultado de um golpe na cabeça. Arrastava de uma perna e tinha um olho vazado. Foi enterrado no adro. “ Lê-se num assento de um livro de Óbitos de uma das freguesias de Lisboa. Nos átrios das igrejas ou às suas portas eram expostos cadáveres durante vários dias, e a seu lado uma bandeja para a recolha de esmolas, a fim de pagar os serviços religiosos que o padre se recusava a realizar quando um falecido não tinha dinheiro suficiente, para pagar as taxas que cobrava pelos seus serviços. Uma realidade que chocou os estrangeiros que visitaram Portugal, sobretudo Calvinistas, Luteranos, Protestantes, deixando-nos claros relatos desta presenciada ocorrência (Fig. 1 e Fig. 2). Havia ainda corpos, deixados ao abandono, alguns em monturos, onde cães vadios os dilaceravam (Fig. 3). Dentro dos templos, a realidade não era visualmente mais amena: cadáveres eram vistos ora Selo abatimento da terra das sepulturas ora porque, ao abrir-se uma nova, o anterior cadáver não havia sido consumido pela terra. Estes factos resumidamente contados, engrossavam as razões pelas quais os “Higienistas”, colocaram os mortos como prioridade para retirá-los dos centros urbanos. A associação visual com o olfacto não foi difícil para os cientistas do século XVIII, justificarem as suas teorias, perante um costume tolerado durante séculos do mesmo modo que as administrações (França, Itália, Espanha…) não hesitaram em incluir como assunto prioritário na melhoria da salubridade pública. 2
3