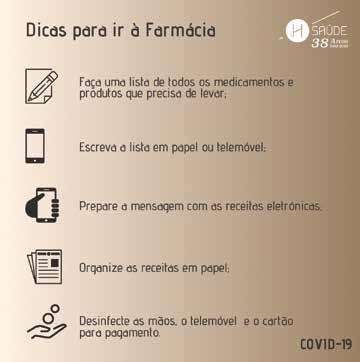7 minute read
Cultura | Notas sobre o ar e a saúde pública: Os cemitérios no Séc. XIX | PhD António Delgado
PhD António Delgado Docente Universitário Investigador no CIEBA- U.Lisboa
Cultura
Advertisement
Notas sobre o ar e a saúde pública Os cemitérios no Séc. XIX
Philippe Aries escreveu que em finais do século XVIII: “num lapso de cerca de três décadas verteram-se hábitos milenares e a principal razão que os contemporâneos apresentaram para esta mudança foi o carácter infeccioso dos cemitérios tradicionais e os perigos que eles representavam para a saúde pública”.
Esta citação reflete o despertar para uma nova consciência que a ciência do período das Luzes lançou para a Saúde Pública, na qual o “ar” que se respirava era visto na opinião de médicos, físicos, biólogos… como o principal transmissor das epidemias que afligiam a sociedade de então, devido a males diretamente relacionados com as sepulturas dos mortos no interior das cidades. Para a ciência, os mortos tinham o “poder da infestação contagiosa” e as “sepulturas formavam gases tóxicos geradores de pestes”, realidades que atormentavam as sociedades.
No Séc. XVIII, os odores eram um problema comum com graves repercussões na saúde pública e em cada estação mais quente, a questão assumia proporções desmesuradas, dada a quantidade de resíduos e dejetos que se acumulavam nas ruas das cidades e aldeias como consequência da falta de esgotos, coleta de lixos, escoamento de águas residuais e da prática comum, em todo o Ocidente, de lançar detritos e dejetos na rua, tornando os espaços públicos insalubres.
O aviso “ lá vai água” registado em muitos livros de viagens do século XVIII apesar de conhecida, era temida (de dia ou de noite), pelos transeuntes, por razões óbvias.
No entanto foi a morte e o hábito de enterrar os defuntos em meios urbanos, no interior das igreja, seus espaços envolventes e os odores de putrefação dos corpos, que levou a ideia da preservação do “ar” a adquirir dimensões de cruzada, porque os mortos eram a parte mais visível desta realidade, que os higienistas censuravam. A familiaridade com os mortos era tão comum e banal que facilmente

1
qualquer transeunte, ao passar nos arredores de uma igreja daria com falecidos, ossos caveiras cadáveres de indigentes pelas ruas ou outros expostos à porta das igrejas.
“Em 15 de junho de 1575, um homem foi encontrado na porta da igreja e seu nome não é conhecido (...) Ele morreu como resultado de um golpe na cabeça. Arrastava de uma perna e tinha um olho vazado. Foi enterrado no adro. “ Lê-se num assento de um livro de Óbitos de uma das freguesias de Lisboa.
Nos átrios das igrejas ou às suas portas eram expostos cadáveres durante vários dias, e a seu lado uma bandeja para a recolha de esmolas, a fim de pagar os serviços religiosos que o padre se recusava a realizar quando um falecido não tinha dinheiro suficiente, para pagar as taxas que cobrava pelos seus serviços. Uma realidade que chocou os estrangeiros que visitaram Portugal, sobretudo Calvinistas, Luteranos, Protestantes, deixando-nos claros relatos desta presenciada ocorrência (Fig. 1 e Fig. 2).
Havia ainda corpos, deixados ao abandono, alguns em monturos, onde cães vadios os dilaceravam (Fig. 3).
Dentro dos templos, a realidade não era visualmente mais amena: cadáveres eram vistos ora Selo abatimento da terra das sepulturas ora porque, ao abrir-se uma nova, o anterior cadáver não havia sido consumido pela terra.
Estes factos resumidamente contados, engrossavam as razões pelas quais os “Higienistas”, colocaram os mortos como prioridade para retirá-los dos centros urbanos. A associação visual com o olfacto não foi difícil para os cientistas do século XVIII, justificarem as suas teorias, perante um costume tolerado durante séculos do mesmo modo que as administrações (França, Itália, Espanha…) não hesitaram em incluir como assunto prioritário na melhoria da salubridade pública.
2

3
Portugal é parco em documentação entre higienização e urbanismo desta época, mas a escassa documentação oficial, mostra a existência do problema e a apreensão com que o tema era visto.
No final do século XVII, foi desativado por dois anos o cemitério do Hospital dos Soldados de Lisboa, porque numa inspeção ordenada pelo Senado da Cidade foi indicado no relatório que muitas doenças surgiam naquela área da cidade.
A inspeção concluiu que “muitos corpos haviam sido enterrados no cemitério do Hospital dos Soldados estavam tão à superfície da terra que poderiam resultar em danos à saúde”. Por prevenção os agentes da saúde ordenaram derramar cal nas sepulturas e aumentar a distância e o isolamento entre os cadáveres no solo.
Método parecido seguiu Francisco Ribeiro Sanches, no ano de 1765 na Costa da Caparica ao detectar um foco epidêmico naquela zona. Proibiu-se que mais corpos fossem enterrados dentro do templo no município e ordenou cobrir o chão da igreja com “cal e uma camada de gesso”. E proibiu ainda que na região os corpos fossem enterrados unicamente nos átrios até novo aviso.
No início do século XIX ainda era comum o ar de Lisboa ser purificado pela queima de grandes quantidades de Alecrim em pontos estratégicos da cidade (terá a rua do Alecrim a haver com isto?). Em séculos anteriores, derramava-se enormes quantidades de vinagre pelas ruas e disparavam-se tiros de canhões para o cheiro da pólvora purificar o ar.
Grosso modo era esta a realidade das cidades europeias, no entanto em finais do século XVIII inicia-se uma nova realidade urbana que no caso Português, é assumida na arquitetura da Baixa Pombalina: ruas abertas, largas, perpendiculares onde a Luz e o Ar circulam abundantemente, ao contrário do urbanismos orgânicos e irregulares de cariz medieval, definido na estrutura dos antigos bairros de Lisboa, pela zona do Castelo. A catástrofe de 1755 vem ajudar a impor esta realidade.
O “ar” e a sua relação com a Saúde Pública, originou ainda a criação do cemitério nos moldes em que hoje os conhecemos, fora dos meios urbanos, em espaços altos e arejados e «Ensinou-nos» a olhar a morte,


4
através de múltiplos ângulos, entre eles o da inclusão social pois a sua instituição promoveu o direito à sepultura individual para todos.
Esta estrutura ajudou igualmente a olhar a Natureza e os sinais que foram deixados nela pelo ser humano, porque os primeiros cemitérios públicos, foram criados em ruínas de antigos espaços sagrados como mosteiros e igrejas abandonados na paisagem. Realidade que pinturas do período romântico bem nos mostram (fig. 4 fig.5) e se encontram nos processos de muitos cemitérios. A ruína, além de simbolizar a Morte, é um dos sinais que a História nos dá, sobre a impossibilidade de tudo o que é de concepção humana resistir ao tempo e ser igualmente provisório como o próprio ser.
Outro preceito foi irmanar os cemitérios (agora públicos) com a ideia de “Natureza e Artifício”, convertendo-os numa espécie de Eliseu, onde o ponto de vista dos vivos era tido em conta. Seria um lugar para passear e educar como “Museu de Arte e Virtudes Cívicas” ao ar livre, onde as sepulturas com os epitáfios lembravam a probidade dos falecidos (fig.6) incitando o passeante à imitação dessas qualidades. O monumento funerário assumiria o espírito da estatuária comemorativa das praças, jardins e parques públicos, exposta pelas cidades, com a qual se construía a ideia da nossa história e sua memória em imagens, como foi iniciado em Portugal pelo monumento a Luís de Camões, no Chiado. ( Fig.7)
Além das variantes Escultóricas e Epitáfios, o cemitério também passa a ser um microcosmos da cidade e o espelho da sua organização urbanística e arquitetónica, pela conformação de ruas, praças, avenidas…não apenas reproduzindo modelos arquitetónicos em miniatura em diversidade e género, mas originando centralidades e periferias, zonas ricas e pobres como na cidade dos vivos.
Tornando-se um lugar onde se expõem as contradições existentes na cidade dos vivos, e num espaço de distinção e estratificação social pela arte funerária. A ideia muito arreigada, dos anos 60, 70 e 80 do séc. XX: ter uma segunda habitação para descanso e férias na praia ou no campo é em termos simbólicos a substituição da ideia de possuir um jazigo no cemitério como segunda habitação…para o “descanso eterno” e bem descrita na novela “ O Primo Basílio” de Eça de Queiroz, pelo conselheiro Acácio assumindo o desejo de ter um no Cemitério do Alto de S. João n
5