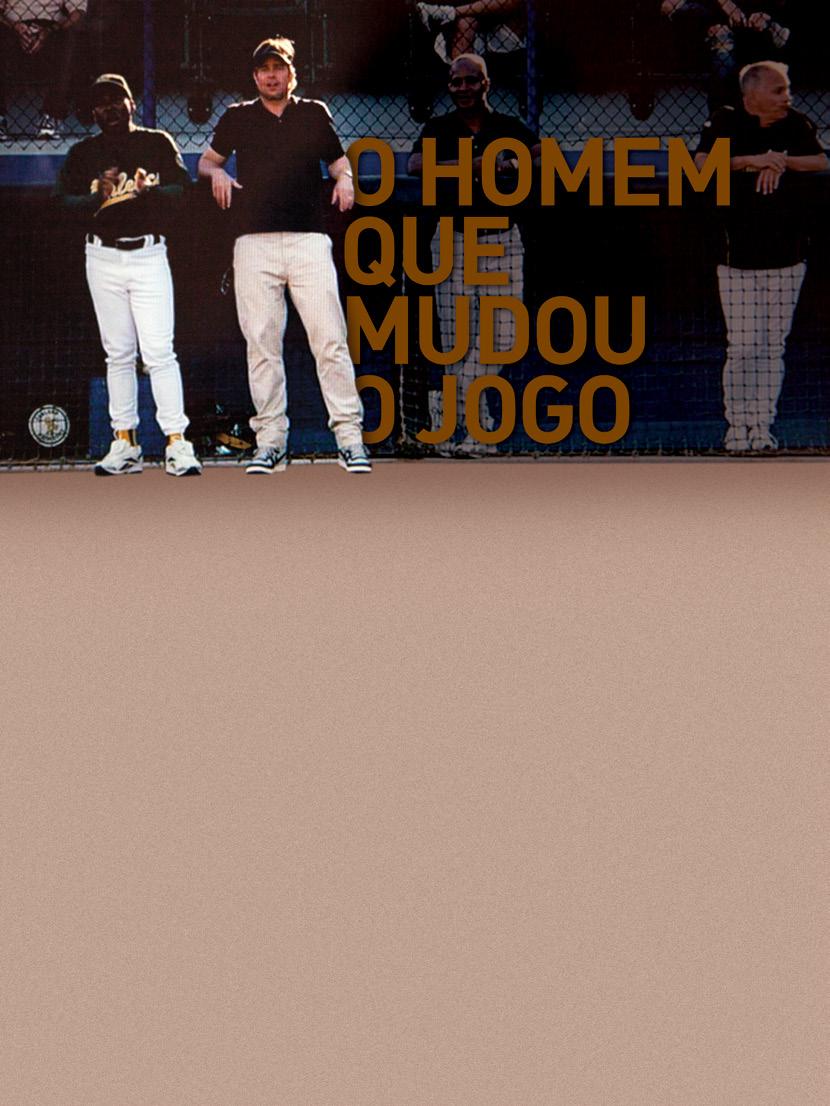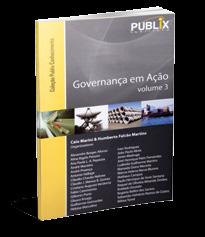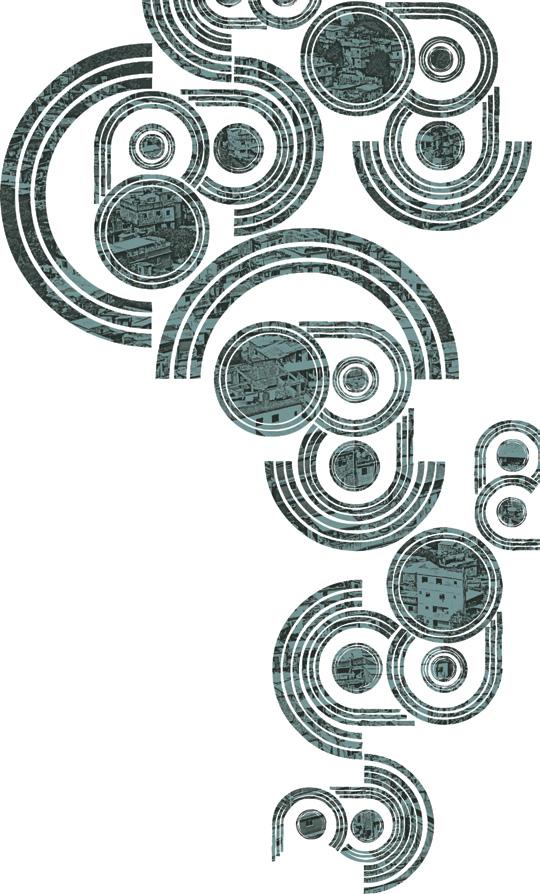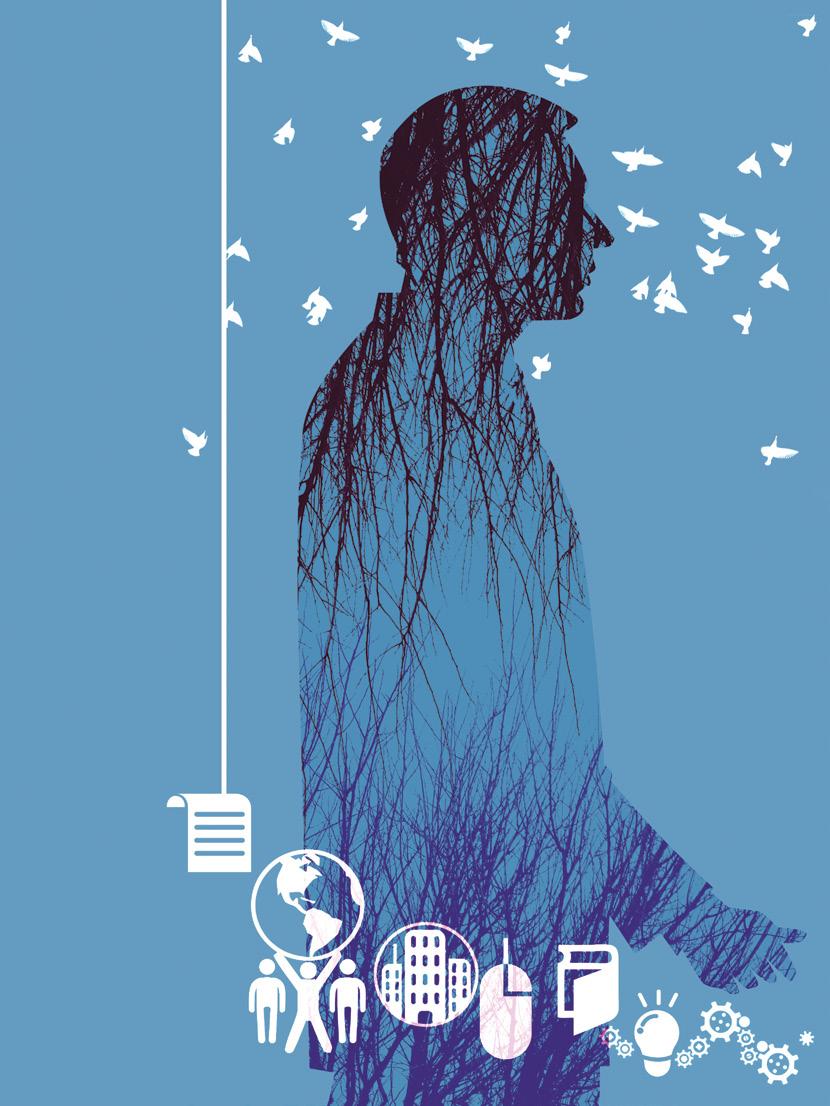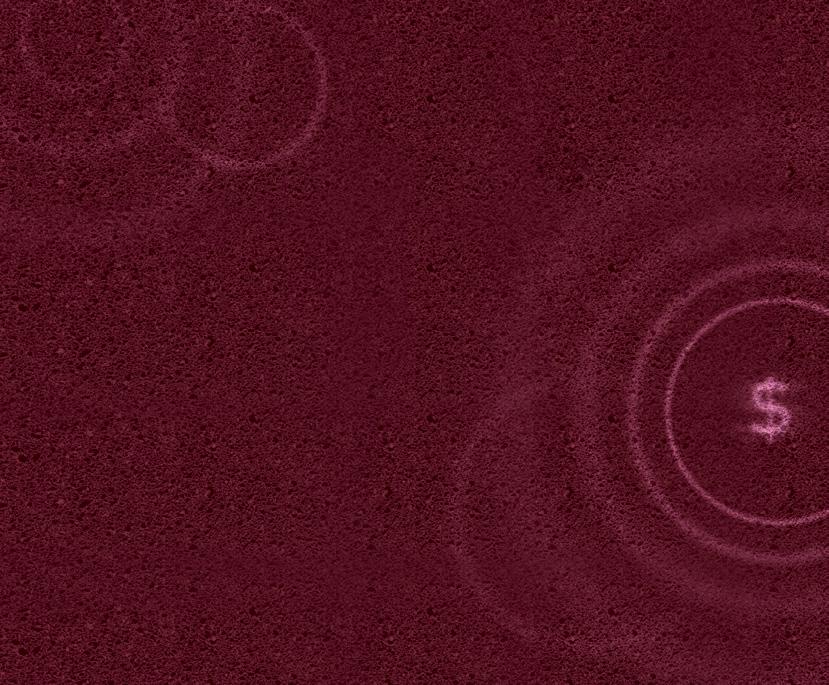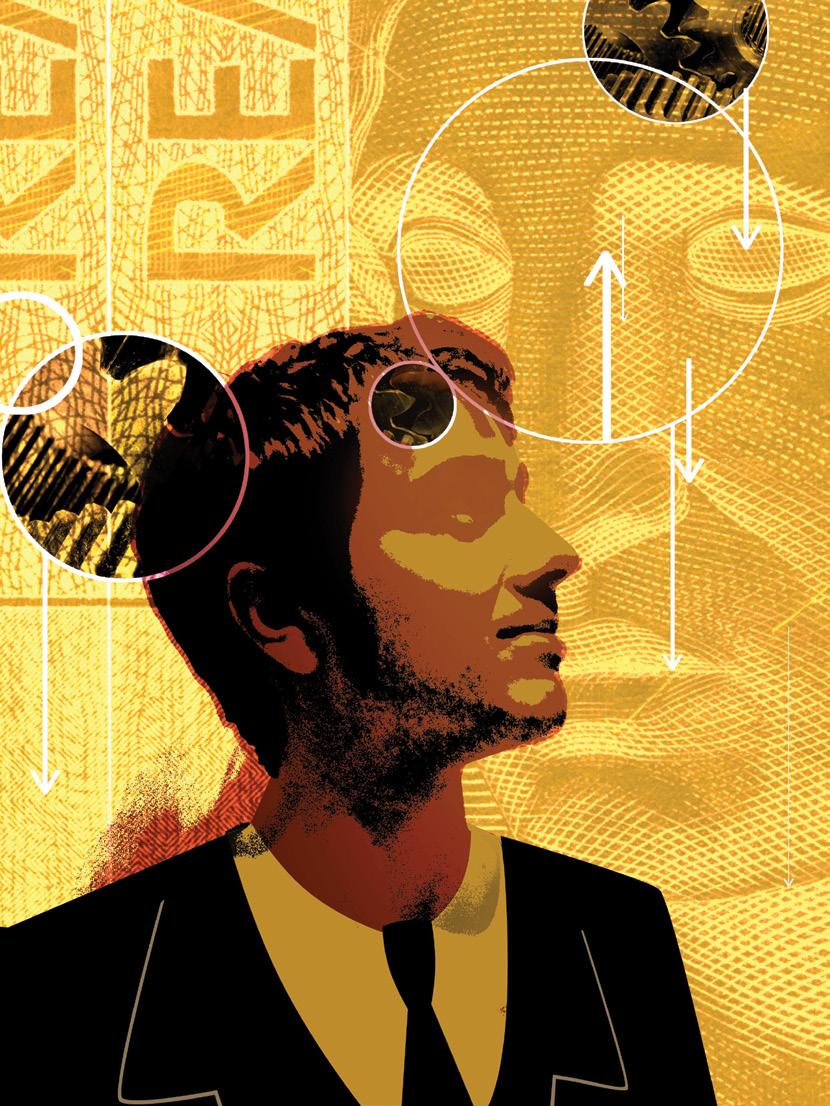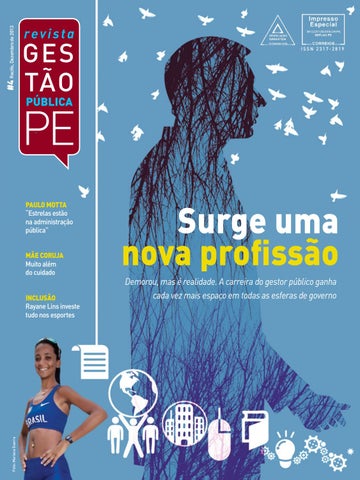10 minute read
OPINIÃO
GOVERNANÇA COLABORATIVA
rquivo pessoal A Foto:
Advertisement
Se pudéssemos propor uma equação do processo de governança, poderíamos ter algo assim: qualidades e capacidades institucionais + atuação em rede > desempenho (esforços > resultados) > valor público.
POR Humbe rto Falc ão Martins
Governança tornou-se um conceito mágico, portador de uma carga prescritiva e múltiplos matizes conceituais que tornam o termo elástico e flu ído. Não é simples tentar juntar seus principais elementos sob um enunciado sucinto. Mas, ousemos: governança é um processo (que requer qualidades e capacidades institucionais de múltiplos agen tes públicos e privados) de geração de valor público – outro conceito mágico relacionado a percepções de satisfação e confiança (o que o público valora e consequentemen te daria algo em troca) em função de resultados de políticas públicas (Moore, 2011).
Logo, muitos predicados comumente atribuídos à governança fazem todo sentido: governança é para resultados, porque se orienta para o desempenho e valor público; governança é colaborativa porque requer interações multi-institucio nais e entre múltiplas instituições e a sociedade. Governança colabo rativa é, enfim, a ciência e a arte de gerar valor público de forma co nectada: é a governança em rede entre instituições e entre estas e a sociedade. E a governança cola borativa é um fenômeno irresistível porque vivemos numa sociedade em rede, somos parte de um esta do em rede, cada vez mais partícipes da coprodução de políticas públicas. Nosso olhar pragmático nos diz que governança colaborativa é um processo; como todo processo pode e deve ser otimizado. para gerar mais valor público com me nos energia. Para isto, é necessário entendê-lo como uma rede. Este é o primeiro desafio. Governança em rede é um processo complexo que possui parâmetros instáveis. O processo de governança não é linear; é uma rede de difícil previsi bilidade, controle e capacidade de intervenção.
Redes são uma nova forma de pensamento sistêmico – que apresenta avanços expressivos em relação a concepções tais como gestáltica, cibernética, teoria geral
27
de sistemas, sistemas complexos, paradigma da complexidade, teoria do caos etc., variando de concep ções de simplicidade para outras de complexidade desorganizada e, ultimamente, de complexidade or ganizada. Com efeito, a atual ciência das redes procura enxergar conexões e padrões gerais presentes em fenômenos físicos, biológicos e sociais, tais como leis de potência e conexões preferenciais (Barabási, 2009), limitação dos graus de se paração (Watts, 2004) e instâncias de socialização (Christakis, 2010, 2012, 2013). Segundo esta nova vi são, tudo está interconectado e o que importa é entender os padrões de conexão e as conexões críticas que mantêm a integridade da rede/ sistema ou cuja ruptura promove sua evolução.
Ao mesmo tempo, do ponto de vista do design institucional, redes são uma nova forma de organiza ção, uma alternativa mais funcional às formas típicas de mercado (ba seado em transações episódicas) e hierárquicas (baseado em inte rações pré-definidas e reguladas) (Agranof, 2007).
Vivemos numa sociedade em rede – o que difere grupos e redes é a conexão entre as partes: redes são grupos de indivíduos ou partes conectadas. Ora, a sociedade sem pre foi uma rede, mas o advento da sociedade da informação (o surgi mento da internet e a vasta e rápida disseminação de instrumentos de conexão entre pessoas) inten sificou a conectividade para além da imaginação. Segundo Manuel Castells, sociólogo catalão que vem pioneiramente estudando este fenômeno há décadas, o que esta sociedade contemporânea super conectada tem de novo é a capacidade de se comunicar de forma “autônoma”, livre do controle das instituições (empresas, igrejas, es tados, mídia etc.), dando expressão a múltiplas formas de exercício do “contra-poder” (uma espécie de lei de reação ao poder exercido pelas instituições) e gerando transfor mações políticas e sociais relevantes. O que Castells denomina “redes de indignação e esperança” são um padrão de emergência do contra-poder pela sociedade ci vil desorganizada, fora das regras de representação de interesse de finidas pelas instituições (ONGs, parlamentos, organismos inter nacionais, organizações governamentais etc.). Este padrão converte de forma difusa e instável o medo e a indignação em raiva e ação, re sultando na ocupação de lugares e na geração de consequências políticas de uma forma segundo a qual o processo de significação (as demandas, as pautas...) se constrói ao longo do desenrolar dos aconte cimentos.
Esta sociedade em rede – que embora ainda não abranja a maior parte do planeta, mas certamente afeta todo o planeta – traz algu mas novidades impactantes para o conceito e a prática da governança colaborativa: está além da colabo ração multi-institucional; e trata- -se de conexões com a sociedade desorganizada, sem a intermedia ção de instituições. Logo, engendra formas altamente instáveis de par ticipação, coprodução e accountability.
Além da sociedade em rede, vivemos um Estado em rede. Sig nifica dizer que agentes públicos e privados (empresas e organizações não-governamentais de distintos tipos, setores e escalas) formam redes de governança para coprodu zir e cocriar (fazer com várias partes, inclusive e principalmente com o beneficiário) serviços, políticas e bens públicos nos mais distintos domínios temáticos. Redes de go vernança são aqui definidas como conjuntos de nós (organizações, grupos, indivíduos), links (comando e controle, concessão e inclusão, cooperação e colaboração, compe tição etc.) e funções (coordenação, mobilização, compartilhamento e difusão de informação, desenvol vimento de capacidades, aprendizado e transferência de tecnologia, enunciado de problemas, desenho e planejamento de soluções, pres tação serviços, regulação, avaliação, alinhamento político etc.).
As redes de governança apare cem como conjuntos de relacionamentos, a partir de capacidades de organizações, grupos e indivíduos em coordenar suas atividades de alguma forma a alcançar objetivos relacionados a propósitos públicos nos quais padrões mistos de hie rarquias, mercados e entes colaborativos operam juntos em múltiplos setores e escalas geográficas mediante múltiplos elos verticais, horizontais e diagonais. (Koliba, Meek & Zia, 2011). Formam, na ex pressão de Agranoff (2007), colaborarquias autogeridas, em que a colaboração advém da confiança e da interdependência (Agranoff & Mc Guire, 2003) e vai além da cooperação (que pode ser esporádica) porque baseia-se em reciprocidade, integração, formalização, alinha mento finalístico e de longo prazo. Colaborarquias autogeridas “não são arranjos caóticos ou desprovi dos de processos estruturados... a gestão colaborárquica é ao mesmo tempo similar e diferente da gestão
de hierárquica” (Agranoff, 2007, p.123-4), combinando elementos hierárquicos e outros tipicamente colaborativos, conforme ilustrados no quadro a seguir. O grande de safio da gestão colaborárquica é combinar atributos hierárquicos e colaborativos, posto que nenhum dos dois caráteres, por si só, repre senta nem o melhor nem o pior de um modelo de gestão em rede.
Tais arranjos colaborárqui cos geram significativos impactos tanto do ponto de vista gerencial HIERARQUIAS Padronização Especialização Hierarquia Autoridade do cargo Reducionismo Opacidade quanto do ponto de vista político - -democrático.
Do ponto de vista gerencial, redes são formas alternativas de organização, mais flexíveis e com maior capacidade de resposta em ambientes instáveis para tratar problemas públicos complexos. Engendram novos padrões de or ganização baseados na recriação de regras, procedimentos, equi pes em bases mais colaborativas e que envolvem mudanças orga nizacionais dos participantes da rede, principalmente em relação a padrões mais informais de inte ração e comunicação para fora da organização. A interdependência e interação também geram maior consciência estratégica.
Nesse contexto, parcerias figu ram como formas concretas de implementação de arranjos em rede, sejam com entes de cooperação (envolvendo uma vasta tipologia de organizações não governamen tais e formas de atuação conjunta) ou com a iniciativa privada (objeto de modelos estruturados de PPP, parcerias público-privadas pro priamente ditas). A OCDE (1990: 18) define parceria como “siste mas formalizados de cooperação, baseados em arranjos legais de relacionamento ou entendimentos informais, de relacionamentos de trabalho cooperativo e de adoção mútua de planos entre institui ções; envolvendo entendimentos programáticos, compartilhamento de responsabilidades, recursos, riscos e benefícios em determina dos períodos de tempo”. Parcerias são, nesse sentido, uma forma de “governança por terceiros” (Salo mon), envolvendo agentes mais ou menos distantes e dependentes do poder público, tanto empreende dores econômicos interessados na apropriação de valor, quanto em preendedores sociais como foco na criação de valor (Santos, 2009).
Do ponto de vista político-de
Verticalização fragmentária
Comando, controle, coordenação, subordinação, manipulação
Estabilidade, rigidez e inércia Regulamentação e impessoalidade Dependência e centralização
Comunicação de cima para baixo e reservas de informações mocrático, redes de governança
Responsabilização individual Redução de custos e produção
Aprendizado de circuito simples e aplicação do conhecimento (imposição de estilos, culturas e técnicas) REDES
Heterogeneidade morfológica (variedade de requisito) Integração horizontal e transversalidade Cooperação, participação colaborativa, animação, mobilização, articulação, solidariedade e negociação Instabilidade, flexibilidade de dinamismo Multifuncionalidade e redundância Regras básicas + informalidade humanizada Autonomia, descentralização e interdependência
Democracia
Liderança Visão sistêmica Comunicação multidirecional e compartilhamento de informações Transparência, escuta Redução de custos de transação Aprendizado de circuito duplo, apropriação e desenvolvimento de capacidades (geração de conhecimento baseado no intercâmbio de estilos, culturas e ténicas)
Coresponsabilidade provêm uma “ancoragem democrática” baseada na participação, interlocução e uma expansão da accountability. O termo accountabi lity está sendo utilizado no duplo sentido de controle e aprimora mento, tanto exigindo o alcance de metas e conformidade a regras definidas quanto a detecção de problemas e sua correção (Peters, 2010). O dilema é que, por um lado, a governança em rede (policêntri ca, em contraste com a accounta
bility hierárquica tipo agente-principal) gera uma responsabilização difusa. Por outro lado, promove múltiplos regimes de accountabi lity a partir dos eixos democrático (eleitos, cidadãos, lei, tribunais); de mercado (acionista, consumidor); e administrativo (superiores hierár quicos, profissionais especialistas, parceiros). Estes eixos se com binam e sobrepõem em distintas “narrativas de accountability” (Koli ba, Meek & Zia, 2011), promovendo, na expressão de Aguilar (2006), uma “responsabilidade pública de modo integral”. Daí, a importância da gestão para resultados, de ins trumentos quase-legais (soft law), confiança e valores, vigilância anti - -moral hazzard, constituindo-se uma espécie de metagovernança, ou a “governança da governança”. (Peters, 2010; Goldsmith & Eggers, 2004)
Coprodução é, portanto, um elemento que também confere le gitimidade à governança pública, tornando-a mais transparente e democrática, sem prejuízo da atu ação integrada das instituições políticas, diminuindo-se os riscos de insulamento e captura. Coprodu ção também promove eficiência na medida em que permite a compo sição de arranjos organizacionais mistos que minimizam desvanta gens e maximizam vantagens das esferas envolvidas.
A fronteira do conceito e das práticas de governança colaborati va não está apenas no desafio de se gerir redes multi-institucionais de governança, mas como integrar es tas redes com a sociedade em rede, difusa e confusa que é na sua na tureza fluída. Paralelamente à flagrante ignorância que nos acomete – afinal, mais de 100 anos de gera ção sistemática de conhecimento gerencial foram dedicados à orga nizações hierárquicas – é, por outro lado, confortante ver emergir prá ticas inovadoras de gestão coletiva baseadas em redes de colaboração (crowdsourcing com ou sem polini zação ou transferência de conhecimento para inovação, crowdbuying, crowdfunding, crowdlearning, crowd business, peer production, processos de multiversidade, netweaving etc.) que poderão inspirar a criação de conhecimentos gerenciais mais apropriados no âmbito de redes de governança pública.
Referências Agranoff, R. 2007. Managing within networks. Georgetown University Press. & McGuire, M. 2003. Collaborative Public Management. Georgetown University Press. Aguilar, L. F. 2006. Gobernanza y Gestión Pública. Fondo de Cultura Económica. 2011. Public governance for results: a conceptual and operational fra mework. United Nations Economic and Social Council, Committee of Experts on Public Administration, Tenth session New York, 4-8 April 2011. Barabási, Albert-László. 2009. Linked: A Nova Ciência dos Ne tworks - Como Tudo Está Conectado a Tudo e o que Isso Significa para os Negócios, as Relações Sociais e a Ciência. Hemus. Castells, Manuel. 2013. Redes de indignação e esperança – movi mentos sociais na era da internet. Zahar. 2012. Sociedade em rede - era da informação, economia, sociedade e cultura. Paz e Terra. 2010. The Power of Identity: The Information Age: Economy, Socie ty, and Culture Volume II. Willey & Blackwell 2010. End of Millennium: The Infor mation Age: Economy, Society, and Culture Volume III. Willey & Bla ckwell. Christakis, Nicholas A. 2011. Con nected: The Amazing Power of Social Networks and How They Shape Our Lives. HarperCollins. Goldsmith, S. & Eggers, W. 2004. Governing by network. Brookings Institution. Koliba, C., Meek, J. & Zia, A. 2011. Governance Networks in Public Ad ministration and Public Policy. CRC. Kooiman, J. 1993. Modern Gover nance. New Government-Society Interactions. Sage. Moore, M. & Benington, J. 2011. Public Value Theory and Practice. Palgrave MacMillan. OECD (Organisation for Economic Development and Co-operation). 1990. Partnerships for rural deve lopment, Paris: OECD. Salamon, Lester M. 1987. “Of Ma rket Failure, Voluntary Failure, and Third-Party Government: Toward a Theory of Government-Nonprofit Relations in the Modern Welfare State,” Journal of Voluntary Action Research 16 (1-2): 29-49. Santos, Filipe. 2009. A Positive Theory of Social Entrepreneur ship, working paper in the INSEAD Working Paper Series. Watts, Duncan. 2004. Six Degrees: The Science of a Connected Age. W.W. Norton.