

ENDEREÇO
Address Dirección



ENDEREÇO
Address Dirección
EXPEDIENTE | CREDITS | CRÉDITOS
Rui Costa – Governador do Estado da Bahia
Adélia Maria Carvalho de Melo Pinheiro - Secretária da Saúde
• Secretaria da Saúde do Estado da Bahia Centro de Atenção à Saúde (CAS) – Av. Antônio Carlos Magalhães
Parque Bela Vista, Salvador – Bahia – Brasil
CEP 40.280-000
E-mail: rbsp.saude@saude.ba.gov.br http://rbsp.sesab.ba.gov.br
EDITORA GERAL General Publisher
Editora General
EDITORA EXECUTIVA
Executive Publisher
Editora Ejecutiva
EDITORES ASSOCIADOS
Associated Editors
Editores Asociados
CONSELHO EMÉRITO
Emeritus Council
Consejo Emérito
• Marcele Carneiro Paim – ISC – Salvador (BA)
• Lucitânia Rocha de Aleluia – Sesab/APG – Salvador (BA)
• Edivânia Lucia Araujo Santos Landim – Suvisa/Sesab – Salvador (BA)
Eduardo Luiz Andrade Mota – ISC/UFBA
Joana Angélica Oliveira Molesini – SESAB/UCSAL – Salvador (BA)
Lorene Louise Silva Pinto – SESAB/UFBA/FMB – Salvador (BA)
Milton Shintaku – IBICT/MCT
• Ana Maria Fernandes Pita – UCSAL – Salvador (BA)
Carmen Fontes Teixeira – UFBA/ISC – Salvador (BA)
Cristina Maria Meira de Melo – UFBA/EENF – Salvador (BA)
Eliane Elisa de Souza Azevedo – UEFS – Feira de Santana (BA)
Heraldo Peixoto da Silva – UFBA/Agrufba – Salvador (BA)
Jacy Amaral Freire de Andrade – UFBA/Criee – Salvador (BA)
José Carlos Barboza Filho – UCSAL – Salvador (BA)
José Tavares Neto – UFBA/FMB – Salvador (BA)
Juarez Pereira Dias – EBMSP/Sesab – Salvador (BA)
Lauro Antônio Porto – UFBA/FMB – DMP – Salvador (BA)
Luis Eugênio Portela Fernandes de Souza – UFBA/ISC – Salvador (BA)
Paulo Gilvane Lopes Pena – UFBA/FMB – DMP – Salvador (BA)
Vera Lúcia Almeida Formigli – UFBA/FMB – DMP – Salvador (BA)
CONSELHO EDITORIAL
Editorial Board
Consejo Editorial
• Adriana Cavalcanti de Aguiar – Instituto Oswaldo Cruz/Instituto de Medicina Social (UERJ) – Rio de Janeiro (RJ)
Andrea Caprara – UEC – Fortaleza (CE)
Jaime Breilh – Centro de Estudios Y Asesoría en Salud (CEAS) – (Health Research and Advisory Center – Ecuador
Julio Lenin Diaz Guzman – UESC (BA)
Laura Camargo Macruz Feuerwerker – USP – São Paulo (SP)
Luiz Roberto Santos Moraes – UFBA/Escola Politécnica – DHS – Salvador (BA)
Mitermayer Galvão dos Reis – Fiocruz – Salvador (BA)
Reinaldo Pessoa Martinelli – UFBA/FMB – Salvador (BA)
Rodolfo G. P. Leon – Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS)
Ruben Araújo Mattos – UERJ – Rio de Janeiro (RJ)
Sérgio Koifman – ENSP/Fiocruz – Rio de Janeiro (RJ)
Volney de Magalhães Câmara – URFJ – Rio de Janeiro (RJ)
ISSN: 0100-0233
ISSN (on-line): 2318-2660
Governo do Estado da Bahia
Secretaria da Saúde do Estado da Bahia
INDEXAÇÃO | INDEXING | INDEXACIÓN

Revisão e normalização de originais | Review and standardization | Revisión y normalización: Tikinet

Revisão de provas | Proofreading | Revisión de pruebas: Tikinet
Revisão técnica | Technical review | Revisión técnica: Lucitânia Rocha de Aleluia
Tradução/revisão inglês | Translation/review english | Revisión/traducción inglés: Tikinet

Tradução/revisão espanhol | Translation/review spanish | Traducción/revisión español: Tikinet
Editoração eletrônica | Electronic publishing | Editoración electrónica: Tikinet
Capa | Cover | Tapa: detalhe do portal da antiga Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Solar do século XVIII)
Fotos | Photos | Fotos: Paulo Carvalho e Rodrigo Andrade (detalhes do portal e azulejos)
Periodicidade – Trimestral | Periodicity – Quarterly | Periodicidad – Trimestral
Revista Baiana de Saúde Pública é associada à Associação Brasileira de Editores Científicos
Revista Baiana de Saúde Pública is associated to Associação Brasileira de Editores Científicos

Revista Baiana de Saúde Pública es asociada a la Associação Brasileira de Editores Científicos

Revista Baiana de Saúde Pública / Secretaria da Saúde do Estado da Bahia. - v. 44, n. 4, p. 1-320 out./dez. 2020Salvador: Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, 2020.
Trimestral.
Publicado também como revista eletrônica.
ISSN 0100-0233
E-ISSN 2318-2660

1.Saúde Pública - Bahia - Periódico. IT
CDU 614 (813.8) (05)
TRANSLATION, ADAPTATION AND EVALUATION OF THE PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE AROUSAL PREDISPOSITION SCALE IN CHILDREN AND ADOLESCENTS
TRADUCCIÓN, ADAPTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DE LA AROUSAL PREDISPOSITION SCALE EN NIÑOS Y ADOLESCENTES

Ana Carolina Brunatto Falchetti Campos, Nanucha Teixeira da Silva, Stanley Coren, Elizeth Heldt FORÇA DE PREENSÃO MANUAL EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS COM DOENÇAS OSTEOARTICULARES 27
HAND GRIP STRENGTH IN INSTITUTIONALIZED OLDER ADULTS WITH OSTEOARTICULAR DISEASES
FUERZA DE AGARRE EN ANCIANOS INSTITUCIONALIZADOS CON ENFERMEDADES OSTEOARTICULARES
Karina Garbin, Dáfne dos Santos Ribeiro, Matheus Santos Gomes Jorge, Marlene Doring, Marilene Rodrigues Portella, Lia Mara Wibelinger
CONDIÇÕES SANITÁRIAS RELACIONADAS À MORADIA EM UMA COMUNIDADE RURAL DO VALE DO JIQUIRIÇÁ (BA)
HOUSING-RELATED SANITARY CONDITIONS OF A RURAL COMMUNITY IN THE JIQUIRIÇÁ VALLEY, BRAZIL CONDICIONES SANITARIAS RELACIONADAS A LA VIVIENDA EN UNA COMUNIDAD RURAL DEL VALLE DEL JIQUIRIÇÁ, BAHÍA, BRASIL
João Nilton Souza Maia, Daniela Carneiro Sampaio, Maria da Conceição Costa Rivemales, Rosa Cândida Cordeiro, Terciana Vidal Moura, Lavinya Lima Cordeiro Oliveira
PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM UMA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL:
INTEGRATIVE AND COMPLEMENTARY PRACTICES IN A NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION: IN SEARCH OF COMPREHENSIVE CARE
TERAPIAS INTEGRADORAS Y COMPLEMENTARIAS EN UNA ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL: EN BUSCA DE UN CUIDADO INTEGRAL
Natalia Rosiely Costa Vargas, Caroline Vasconcellos Lopes, Márcia Kaster Portelinha, Camila Timm Bonow, Rita Maria Heck
EPIDEMIOLOGY OF VIRAL HEPATATIS IN BRAZIL EPIDEMIOLOGÍA DE LAS HEPATITIS VIRALES EN BRASIL
Camila Maciel Dias, Luís Felipe Guimarães Cunha, João Pedro Abreu Carvalho, Farley Henrique Duarte, Lucca Scolari Goyatá, Gisele Aparecida Fófano
VIVÊNCIAS RELACIONADAS AO ALEITAMENTO MATERNO E SUA INTERRUPÇÃO PRECOCE:
EXPERIENCES RELATED TO BREASTFEEDING AND ITS EARLY INTERRUPTION: A QUALITATIVE STUDY WITH NURSING MOTHERS EXPERIENCIAS RELACIONADAS CON LA LACTANCIA Y SU INTERRUPCIÓN TEMPRANA: ESTUDIO CUALITATIVO CON NUTRICES
Sthefane Pires dos Santos, Lana Mércia Santiago de Souza, Jerusa da Mota Santana
41
MENINGITE INFANTOJUVENIL NA BAHIA: UMA ABORDAGEM EPIDEMIOLÓGICA – 2007 A 2018
CHILDHOOD MENINGITIS IN BAHIA, FROM 2007 TO 2018: AN EPIDEMIOLOGICAL APPROACH
MENINGITIS INFANTO-JUVENIL EN BAHÍA: UN ENFOQUE EPIDEMIOLÓGICO ENTRE 2007 Y 2018
Émily Ane Araujo Santana, Normeide Pedreira dos Santos Franca
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E DEMOGRÁFICAS DOS PACIENTES COM ENDOCARDITE INFECCIOSA EM UM SERVIÇO DE CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA
CLINICAL AND DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH INFECTIVE ENDOCARDITIS TREATED AT A PEDIATRIC CARDIOLOGY SEVICE
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y DEMOGRÁFICAS DE LOS PACIENTES CON ENDOCARDITIS INFECCIOSA EN UN SERVICIO DE CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA
Amanda Portela Silva, Isabel Cristina Britto Guimarães
ANÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO, DEMOGRÁFICO E EPIDEMIOLÓGICO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA (BA)
ANALYSIS OF THE SOCIOECONOMIC, DEMOGRAPHIC AND EPIDEMIOLOGICAL PROFILE OF THE POPULATION OF FEIRA DE SANTANA, BAHIA
ANÁLISIS DEL PERFIL SOCIOECONÓMICO, DEMOGRÁFICO Y EPIDEMIOLÓGICO DE LA POBLACIÓN DE LA CUIDAD DE FERIA DE SANTANA, BA, BRASIL
Hassyla Maria de Carvalho Bezerra, Michelle Christini Araújo Vieira, Margaret Olinda Lira, Claudelí Mistura, Jonatan Willian Sobral Barros da Silva, Bruna Stamm
112
128
144
O CUIDADO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: REPRESENTAÇÃO SOCIAL DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 160
CARING FOR DOMESTIC VIOLENCE VICTIMS: SOCIAL REPRESENTATION OF HEALTH PROFESSIONALS EL CUIDADO A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA: REPRESENTACIÓN SOCIAL DE PROFESIONALES DE SALUD
Camila Daiane Silva, Marina Soares Mota, Daniele Ferreira Acosta, Juliane Portella Ribeiro
USO DE TEORIAS E METODOLOGIAS PARA ATUAÇÃO COM GRUPOS NA ATENÇÃO BÁSICA 174
USE OF THEORIES AND METHODOLOGIES FOR GROUP WORK IN PRIMARY CARE USO DE TEORÍAS Y METODOLOGÍAS PARA LA ACTUACIÓN CON GRUPOS EN LA ATENCIÓN BÁSICA
Mariane Bittencourt, Artur Cucco, Claudia Regina Lima Duarte da Silva, Judite Hennemann Bertoncini
TENDÊNCIA DA MORTALIDADE POR TUBERCULOSE EM ADULTOS DE DEZ CAPITAIS BRASILEIRAS, 1996-2018
TUBERCULOSIS MORTALITY TREND IN ADULTS, IN TEN BRAZILIAN CAPITALS (1996-2018)
TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR TUBERCULOSIS EN ADULTOS DE DIEZ CAPITALES BRASILEÑAS, 1996-2018
Kleber Proietti Andrade, Larissa Dimas Barbosa, Larissa Ellen Ciribeli, Lélia Cápua Nunes
198
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA MORTALIDADE POR HOMICÍDIOS INTENCIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, PARAÍBA, 2011-2016 212
EPIDEMIOLOGICAL PROFILE OF INTENTIONAL HOMICIDE MORTALITY IN JOÃO PESSOA, PARAÍBA (2011-2016)
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE MORTALIDAD POR HOMICIDIOS INTENCIONALES EN EL MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, PARAÍBA, EN 2011-2016
André Luiz Sá de Oliveira, Louisiana Regadas de Macedo Quinino, Carlos Feitosa Luna
HETEROGENEIDADE NAS CAUSAS DE MORTE DA POPULAÇÃO IDOSA DA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL 224
HETEROGENEITY IN THE CAUSES OF DEATH AMONG OLDER ADULTS IN NORTHEASTERN BRAZIL
HETEROGENEIDAD EN LAS CAUSAS DE MUERTE DE ANCIANOS EN EL NORDESTE DE BRASIL
Tamires Carneiro de Oliveira Mendes, Kenio Costa Lima
EPIDEMIOLOGIA DAS CIRURGIAS TRAUMATO-ORTOPÉDICAS EM DOIS HOSPITAIS DO EXTREMO SUL DO BRASIL 240
EPIDEMIOLOGY OF TRAUMA AND ORTHOPAEDIC SURGERY IN TWO HOSPITALS FROM SOUTHERN BRAZIL EPIDEMIOLOGÍA DE LAS CIRUGÍAS TRAUMATOLÓGICAS Y ORTOPÉDICAS EN DOS HOSPITALES DEL EXTREMO SUR DE BRASIL
Ewerton Cousin, Samuel Carvalho Dumith
COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO AMAZONAS TÊM CONHECIMENTO SOBRE CÁRIE DENTÁRIA: RESULTADO DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL 255
KNOWLEDGE ABOUT DENTAL CARIES AMONG RIBEIRINHOS: RESULT OF ORAL HEALTH EDUCATION
COMUNIDADES RIBEREÑAS DEL AMAZONAS TIENEN CONOCIMIENTO SOBRE LA CARIES DENTAL: RESULTADO DE LA EDUCACIÓN EN SALUD BUCAL
Kellen Cristina da Silva Gasque, Kleber Tsunematsu Hatta Júnior, Pamela Couto Guimarães Costa, Denismar Alves Nogueira
ARTIGO DE REVISÃO
REFUGEES: AN INTEGRATIVE REVIEW OF NATIONAL AND INTERNATIONAL LITERATURE
UNA REVISIÓN INTEGRADORA DE LA LITERATURA NACIONAL E INTERNACIONAL SOBRE REFUGIADOS
Andressa Wendling, Vilma Maria Arnold, Camila Sbeghen, Jaqueline Michaelsen Macedo, Carmem Regina Giongo
NURSE’SPERCEPTION PATIENT SAFETY IN THE EMERGENCY AND URGENT CARE SECTOR: A
REVIEW
DEL ENFERMERO EN LA SEGURIDAD DEL PACIENTE EN EL SECTOR DE URGENCIA Y
A REVIEW OF THE LITERATURE
DE VACUNAS: UNA REVISIÓN DE LA LITERATURA
Scheila Mai, Roger dos Santos Rosa, Fábio Herrmann
DIRETRIZES PARA AUTORES I GUIDELINES FOR AUTHORS DIRECTRIZES PARA AUTORES

Apresentamos este novo número que reúne um conjunto de vinte trabalhos que versam sobre temáticas diversificadas e desafiadoras presentes no cotidiano do nosso Sistema Único de Saúde (SUS). Essa diversidade da produção de conhecimento confirma a relevância dos estudos e contribuições no campo da saúde coletiva em prol da saúde da população brasileira.
A seção Artigos Originais de Tema Livre apresenta 16 artigos. São eles: Tradução, adaptação e avaliação das propriedades psicométricas da Arousal Predisposition Scale em crianças e adolescentes, cujo artigo observa a adequação das propriedades psicométricas; Força de preensão manual em idosos institucionalizados com doenças osteoarticulares, que irá observar os resultados do teste de força de preensão manual em idosos agravados por doenças ósseas; Condições sanitárias relacionadas à moradia em uma comunidade rural do vale do Jiquiriçá (BA), que investiga as condições sanitárias em comunidades de Jiquiraçá, bem como analisa a qualidade de vida desses grupos sociais; Práticas integrativas e complementares em uma organização não governamental: em busca de um cuidado integral, que analisa a qualidade de vida após as práticas que buscam o cuidado integral dos sujeitos; Epidemiologia das hepatites virais no Brasil, artigo que observa em panorama as hepatites virais e os quadros decorrentes delas; Vivências relacionadas ao aleitamento materno e sua interrupção precoce: estudo qualitativo com nutrizes, artigo cuja análise se propõe a discutir sobre o aleitamento e os efeitos de sua interrupção; Meningite infantojuvenil na Bahia: uma abordagem epidemiológica – 2007 a 2018, que observa os quadros epidêmicos da meningite na Bahia; Características clínicas e demográficas dos pacientes com endocardite infecciosa em um Serviço de Cardiologia Pediátrica, observa os pacientes com endocardite; Análise do perfil socioeconômico, demográfico e epidemiológico da população do município de Feira de Santana (BA), observação panorâmica do perfil social e epidemiológico da região de Feira de Santana; O cuidado às vítimas de violência doméstica: representação social de profissionais da saúde, artigo que investiga a compreensão e a interpretação dos profissionais da saúde em relação aos casos de violência doméstica; Uso de teorias e metodologias para atuação com grupos na atenção básica; Tendência da mortalidade por tuberculose em adultos de dez capitais brasileiras, 1996-2018, cuja interpretação se dá a partir da investigação do uso de teorias e metodologias na atuação de grupos de atenção; Perfil epidemiológico da mortalidade por homicídios intencionais no município de João Pessoa, Paraíba, 2011-2016, artigo que possibilita a compreensão em perspectiva do perfil epidemiológico dos homicídios
intencionais em João Pessoa; Heterogeneidade nas causas de morte da população idosa da região Nordeste do Brasil, quadro que investiga as diversas causas de morte em idosos no Nordeste; Epidemiologia das cirurgias traumato-ortopédicas em dois hospitais do extremo sul do Brasil, estudo comparativo de dois hospitais do extremo sul em relação aos traumas ortopédicos e Comunidades ribeirinhas do Amazonas têm conhecimento sobre cárie dentária: resultado da educação em saúde bucal, artigo que propõe uma análise educação em saúde bucal de populações ribeirinhas.
Neste novo volume, temos também quatro artigos de revisão Estudos nacionais e internacionais sobre refugiados: uma revisão integrativa da literatura, revisão sobre os estudos acerca dos refugiados, Relevância da educação alimentar e nutricional no tratamento do diabetes mellitus tipo 1, revisão que possibilita entender a importância de uma educação alimentar para pacientes com diabetes; Percepção do enfermeiro na segurança do paciente no setor de urgência e emergência: uma revisão de literatura, revisão cuja análise se dá a partir da percepção do profissional de saúde, sobretudo o enfermeiro, em relação à segurança do paciente nas urgências médicas, e Desperdício de vacinas: uma revisão da literatura, cuja análise traça as formas de desperdício de vacinas no Brasil.
Esperamos que essa publicação estimule a troca de experiências e que contribua com a produção e difusão de informações técnico-científicas em saúde, ampliando o debate sobre a importância da circulação e democratização do conhecimento.
Lucitania Rocha de Aleluia
https://orcid.org/0000-0001-9901-4768
Editora Executiva da Revista Baiana de Saúde Pública (RBSP)
Ana Carolina Brunatto Falchetti Camposa
https://orcid.org/0000-0002-6105-0795
Nanucha Teixeira da Silvab
https://orcid.org/0000-0002-7276-0995
Stanley Corenc
Elizeth Heldtd
https://orcid.org/0000-0002-4687-282X
Resumo
A Arousal Predisposition Scale (APS) é um instrumento com 12 itens, elaborado para mensurar o nível de arousal de um indivíduo. O termo arousal, traduzido para o português falado no Brasil, significa excitação, isto é, a resposta do organismo frente a um estímulo externo ou estresse ambiental. A escala visa abordar o arousal como uma predisposição ou característica individual de excitação diante de um estressor ambiental. O objetivo deste estudo foi realizar tradução, adaptação e avaliação das propriedades psicométricas da APS para crianças e adolescentes. O estudo foi realizado com 189 alunos, de ambos os sexos, de escolas públicas, com idade entre 10 e 17 anos. A pesquisa foi dividida em duas etapas: a primeira foi a adaptação transcultural e a segunda etapa envolveu a avaliação das propriedades psicométricas da versão final. Os resultados apresentaram uma consistência interna dos itens aceitável para os grupos pré-adolescentes e adolescentes (alfa de Cronbach > 0,700). Não houve diferença significativa entre a escala total em médias de teste-reteste e uma correlação significativa de moderada a
a Psicóloga e Enfermeira. Mestre em Enfermagem pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Doutora em Ciências da Saúde pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade do Extremo Sul Catarinense. Criciúma, Santa Catarina, Brasil. E-mail: ana.falchetti@hotmail.com
b Enfermeira. Mestre em Ciências Médicas. Psiquiatria pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. E-mail: nanuchats@gmail.com
c Professor Emérito, Ph.D., F.R.S.C no Departamento de Psicologia da Universidade de Columbia. Vancouver, British Columbia, Canadá. E-mail: coren@psych.ubc.ca
d Professora Doutora do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. E-mail: eliz.h@globo.com
Endereço para correspondência: Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Rua São Manoel, n. 963, Rio Branco. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. CEP: 90620-110: E-mail: ana.falchetti@hotmail.com
forte de validade de critério. A APS foi traduzida, adaptada e validada no Brasil para o grupo etário de 11 anos de idade. Destaca-se ainda a importância da utilização dessa escala por diferentes setores de saúde e da educação, em escolas de ensino fundamental e médio, contribuindo para identificar precocemente problemas de comportamento.
Palavras-chave: Arousal. Estudos de validação. Comportamento. Saúde pública.
Abstract
Arousal Predisposition Scale (APS) is a 12-item instrument designed to measure the arousal level of an individual. Translated into Brazilian Portuguese arousal means excitement, that is, the body’s response to an external stimulus or environmental stress. The scale aims to address arousal as a predisposition or individual characteristic of excitement when facing an environmental stressor. Hence, this study sought to translate, adapt, and evaluate the psychometric properties of the APS for children and adolescents. Data was collected from 189 students, of all genders, from public schools, aged 10 to 17 years. The research was divided into two stages: first, the cross-cultural adaptation, followed by the evaluation of the psychometric properties in the final version. Results showed an acceptable internal consistency of the items for the pre-adolescent and adolescent groups (Cronbach’s alpha > 0.700). The findings presented no significant difference between full-scale test-retest means and a significant moderate to strong correlation of criterion validity. The APS was translated, adapted and validated in Brazil for the 11-year-old age group. APS should be used by different health and education sectors in primary and secondary schools to help identify early behavioral problems.
Keywords: Arousal. Validation studies. Behavior. Public health.
TRADUCCIÓN, ADAPTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DE LA AROUSAL PREDISPOSITION SCALE EN NIÑOS Y ADOLESCENTES
Resumen
La Arousal Predisposition Scale (APS) es un instrumento que consta de 12 ítems para estimar el nivel de arousal de un individuo. El término arousal significa excitación en portugués de Brasil, es decir, una respuesta del organismo frente a un estímulo externo o estrés
ambiental. La escala pretende abordar el arousal como una predisposición o característica individual de excitación frente a un estrés ambiental. El objetivo de este estudio fue realizar la traducción, la adaptación, la evaluación y la valoración de las propiedades psicométricas de la APS para niños y adolescentes. Se realizó un estudio con 189 alumnos, de ambos sexos, de escuelas públicas, con edades de entre los 10 y 17 años. La investigación constó de dos etapas: la primera realizó la adaptación transcultural; y la segunda, la evaluación de las propiedades psicométricas de la versión final. Los resultados mostraron una consistencia interna de los ítems aceptable para los grupos de preadolescentes y adolescentes (alfa de Cronbach > 0,700). No hubo diferencias significativas entre la escala total en las medias de prueba-reprueba y una correlación significativa de moderada a fuerte como validez de criterio. Se realizó la traducción, la adaptación y la validación de la APS en Brasil para el grupo de edad de los 11 años. Se señala la importancia de la utilización de esta escala para los diferentes sectores de salud y de la educación, en la primaria y la secundaria, al contribuir a la identificación de problemas de comportamiento.
Palabras clave: Arousal. Estudios de validación. Comportamiento. Salud pública.
A Arousal Predisposition Escale – APS (Escala de Predisposição de Resposta a Estímulos) é constituída de 12 itens e foi elaborada para mensurar o nível de arousal de um indivíduo1. A APS originalmente continha 314 itens. Os pesquisadores isolaram os itens que enfatizavam aspectos cognitivos comuns que melhor poderiam indicar o arousal como uma predisposição, resultando, assim, em uma escala com 12 itens2.
O estudo de validação apresentou um coeficiente de confiabilidade de Cronbach = 0,830 e correlação entre os grupos com arousal alto e baixo quando comparados com dados obtidos em estudos eletrodérmicos. Dessa forma, a APS foi considerada uma escala para medir diferenças individuais de resposta a estímulos3. Cada item corresponde a um escore de 1 a 5 de acordo com a resposta do sujeito (1 = nunca; 2 = raramente; 3 = ocasionalmente; 4 = frequentemente; 5 = sempre, com exceção do item 1 que o escore é inverso). O escore total é obtido por meio da soma dos resultados de cada item, em um mínimo de 12 e máximo de sessenta pontos4. O autor indica que os sujeitos que pontuarem 10% do topo (≥ percentil 90) e 10% da base (≤ percentil 10) sejam considerados como over aroused (super estimuláveis) e low aroused (pouco estimuláveis), respectivamente. Os demais sujeitos (80%) seriam considerados
normais. Se uma questão não for respondida, o escore é rateado, e se considera perda, no caso de mais de uma questão não ser respondida.
Recentemente a APS tem sido utilizada em pesquisas para identificar predisposição a problemas de comportamento. Em um estudo com adolescentes identificados como agressores na prática do bullying foram encontrados níveis baixos de arousal medidos com a APS5
As alterações de comportamento que ocorrem na infância e na adolescência podem se manifestar como respostas aos eventos ambientais, uma vez que experiências e acontecimentos nessas fases podem influenciar o processo de desenvolvimento e sua relação com o meio6. Logo, quando detectadas precocemente, possibilitam que intervenções sejam iniciadas6 para modificar as repercussões negativas tanto para a criança quanto para a família7,8
Um estudo com enfermeiras norte-americanas que acompanharam crianças em situação de risco, desde o pré-natal até a adolescência, foi realizado utilizando visitas domiciliares e treinamento com os pais, as crianças e os professores. Os resultados demonstraram que o intenso acompanhamento reduz significativamente os índices de maus-tratos e negligência por parte dos pais e educadores, como também se reduziu a incidência de outros fatores de risco para o desenvolvimento de comportamentos antissociais na infância9,10
Em nosso meio, são escassos os estudos relacionados ao rastreamento de crianças e adolescentes com maior probabilidade de apresentar comportamento considerado problemático. Além disso, a atuação da Atenção Básica frente a estratégias de rastreio para problemas de comportamento na infância e adolescência poderá auxiliar não só na prevenção de danos relacionados ao desenvolvimento infantil, mas também na dos déficits no desenvolvimento acadêmico dessa população. Portanto, este estudo pretendeu realizar a tradução, adaptação transcultural e avaliação das propriedades psicométricas da APS para o português falado no Brasil, a fim de contribuir na detecção precoce de alterações comportamentais em crianças ou adolescentes, prevenindo prejuízos do desenvolvimento e da aprendizagem 11
Trata-se de um estudo transversal de adaptação transcultural, que seguiu a metodologia proposta por Beaton et al.12.
O estudo respeitou os princípios éticos envolvidos na pesquisa com seres humanos e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Clínicas de
Porto Alegre (nº 120078). Os pais ou responsáveis autorizaram a participação das crianças e dos adolescentes no estudo.
A adaptação da APS envolveu duas fases12: Fase I, que consistiu na tradução para o português; retradução para o inglês; correção e adaptação da semântica com o comitê de especialistas; e avaliação da clareza da versão pré-final. Fase II, em que foi realizada a avaliação das propriedades psicométricas da versão final (consistência interna, concordância intraavaliadores e validade de critério).
A primeira etapa consistiu na tradução do instrumento, que foi realizada por dois tradutores bilíngues, tendo o português como o idioma nativo. Ambos os tradutores não conheciam previamente o instrumento e um dos tradutores era da área da saúde. Após isso, foi obtida uma síntese das duas traduções.
Na segunda etapa, a retradução (back translation) foi realizada por dois tradutores com o idioma de origem inglês e fluência no português. Os tradutores também não conheciam o instrumento e não eram da área da saúde. O resultado foi uma nova síntese, e essa versão foi enviada para o autor da escala.
A terceira etapa foi a revisão técnica e adaptação da semântica para o português, a qual foi realizada por um comitê de especialistas, composto por: um médico psiquiatra da infância e adolescência, uma pesquisadora com experiência no método de validação transcultural, uma psicóloga, duas enfermeiras com experiência em transtornos externalizantes e a pesquisadora.
A quarta etapa foi a avaliação da clareza, na qual foram incluídos escolares de ambos os sexos, matriculados em três escolas da rede pública de ensino da área de abrangência da Unidade Básica de Saúde do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Os alunos foram classificados de acordo com a fase de desenvolvimento em três faixas etárias: crianças de 8-10 anos, pré-adolescentes de 11-14 anos e adolescentes dos 15-18 anos incompletos. Os alunos com histórico de doença neurológica ou em tratamento de doença crônica foram excluídos. Os dados demográficos (sexo, idade) e de desempenho escolar dos participantes do estudo foram coletados por meio de um instrumento elaborado pelos pesquisadores. A clareza de cada item foi avaliada por uma escala Likert de 5 pontos para responder à questão norteadora:
“Avalie a clareza da questão”, sendo 0 = Não entendi; 1 = Entendi pouco; 2 = Entendi nem pouco nem muito; 3 = Entendi; 4 = Entendi muito. A aplicação do instrumento foi na escola, em sala de aula, com a presença da equipe de pesquisa.
As propriedades psicométricas foram avaliadas por meio do alfa de Cronbach; concordância intra-avaliadores ou estabilidade, (teste e (re)teste); e a validade de critério13
Para a avaliação da consistência interna de uma escala, é necessário que haja de cinco a dez repetições para cada questão14 Considerando que a APS é composta por 12 questões e, como foram utilizadas três faixas etárias, fez-se necessário um total de sessenta alunos para cada grupo. Levando-se em conta as possíveis perdas, foram acrescentados 5% de participantes, totalizando 189 estudantes para essa fase do estudo.
Após 15 dias do primeiro preenchimento da APS (teste), foi realizada a confiabilidade intra-avaliadores para verificar a estabilidade da escala ao longo do tempo. Para essa etapa, foi utilizado um total de trinta alunos, os quais foram sorteados (dez de cada faixa etária) e responderam novamente ao instrumento, (re)teste.
A validade de critério da APS foi realizada por meio da comparação com o instrumento Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), ou Questionário de Capacidades e Dificuldades, traduzido e validado no Brasil15. O SDQ é um questionário que rastreia problemas de saúde mental infantil e é constituído por 25 itens, alguns positivos e outros negativos, os quais são divididos em cinco subescalas: problemas no comportamento pró-social; hiperatividade; problemas emocionais; problema de conduta; e problemas de relacionamento, com cinco itens em cada subescala. As respostas podem ser: falso (zero), mais ou menos verdadeiro (um ponto) ou verdadeiro (dois pontos). O SDQ foi respondido concomitantemente com a versão final da APS.
Os dados demográficos e de desempenho escolar dos participantes do estudo foram coletados por meio de instrumento elaborado pelos pesquisadores. A aplicação das escalas foi na escola, em sala de aula, com a presença da equipe de pesquisa.
Os dados estão descritos pela média e pelo desvio padrão ou pela mediana e pelos percentis, conforme distribuição para variáveis contínuas. Para a avaliação das variáveis categóricas, foram utilizados frequência e percentual. A clareza das questões por faixa etária foi realizada através do teste de Friedman, e para verificar a relação de entendimento de cada questão com o desempenho escolar utilizou-se a correlação de Spearman. A análise estatística foi realizada através do pacote estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 18.0 e o nível de significância adotado foi α < 0,05.
Os consensos gerados a partir das traduções e retraduções foram analisados pelo comitê de especialistas, que recomendou alterar frases e palavras para um melhor entendimento (Quadro 1). O foco do comitê foi a adaptação semântica para a faixa etária incluída no estudo (8 a 17 anos). Foi acrescentado o pronome pessoal “Eu” nas questões de número 1, 2, 5, 7, 10, 11 e 12. Essa modificação foi necessária devido ao fato de que no português falado no Brasil ao iniciar a frase no tempo presente na primeira pessoa do singular utiliza-se o pronome pessoal A palavra “se” (if) na questão número 2 foi trocada por “quando” (when). Nas questões 3, 6, 8 e 12 a ordem de algumas palavras foi invertida, porém manteve-se o significado da questão. Por exemplo, na questão 6 a versão do consenso foi: “Meu humor é rapidamente influenciado ao entrar em lugares novos” (My mood is quickly influenced by entering new places.), sendo alterada para “Chegar a lugares novos influencia rapidamente minhas emoções” (Entering new places quickly influences my emotions) Nessa questão, a palavra “humor” (mood) foi alterada para “emoções” (emotions)
Além disso, em outras questões foram alteradas as palavras, por exemplo: coisas “simples” (simple things) na questão 9 da versão original e “trivial” (trivial) no consenso da retradução foram alteradas pelo comitê de especialistas para “bobagem” (silly), pois no Brasil a referida palavra tem significado para coisas “bobas”, facilitando o entendimento das crianças. Esse consenso realizado pelo comitê de especialistas gerou a versão pré-final, que foi retraduzida e enviada ao autor do instrumento original (Stanley Coren). Após a concordância do autor, a versão pré-final foi submetida para avaliação da clareza pelos alunos (Quadro 1, penúltima coluna).
Quadro 1 – Consensos gerados a partir das traduções e retraduções, que foram analisados pelo comitê de especialistas. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil – 2011/2012
(continua)
Versão original
Comitê de especialistas: segunda etapa Versão pré-final em português Versão pré-final em
1. I am a calm person. Eu sou uma pessoa calma. I am a calm person. Eu sou uma pessoa calma. I am a calm person.
2. I get flustered if I have several things to do at once.
Eu fico confuso(a) quando tenho várias coisas para fazer ao mesmo tempo.
I get confused when I have to do different things at the same time.
Eu fico confuso quando tenho várias coisas para fazer ao mesmo tempo.
I get confused when I have to do different things at the same time.
Quadro 1 – Consensos gerados a partir das traduções e retraduções, que foram analisados pelo comitê de especialistas. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil – 2011/2012 (conclusão)
Versão original
3. Sudden changes of any kind produce an immediate emotional effect on me.
Comitê de especialistas: segunda etapa Versão pré-final em português Versão pré-final em inglês Versão final* em português Versão final** em inglês
Mudanças inesperadas de qualquer tipo causam um efeito emocional imediato em mim.
5. I am restless and fidgety. Eu sou inquieto(a) e nervoso(a).
6. My mood is quickly influenced by entering new places.
Chegar a lugares novos influencia rapidamente minhas emoções.
Unexpected changes of any kind produce an immediate emotional response on me.
Qualquer tipo de novas mudanças causa uma emoção imediata em mim.
Unexpected changes of any kind produce an immediate emotional response on me.
I am restless and nervous. Eu sou nervoso(a). I am restless and nervous.
Entering new places quickly influences my emotions.
Chegar a lugares novos afeta rapidamente minhas emoções.
Entering new places quickly influences my emotions.
7. I get excited easily. Eu fico animado com facilidade. I get excited easily. Eu fico animado com facilidade. I get excited easily.
8. I find that my heart keeps beating fast for a while after I have been “stirred up”.
9. I can be emotionally moved by what other people consider to be simple things.
Depois que fico agitado, sinto que meu coração fica batendo mais rápido por um certo tempo.
Eu fico emocionado(a) com coisas que as pessoas acham bobagem.
After getting agitated my heart keeps beating faster for a while.
I get emotional over things that most people consider silly.
Depois que fico agitado, sinto que meu coração fica batendo mais rápido por um certo tempo.
Coisas que as pessoas acham bobagem me emocionam.
After getting agitated my heart keeps beating faster for a while.
I get emotional over things that most people consider silly.
10. I startle easily. Eu me assusto com facilidade. I scare easily. Eu me assusto com facilidade. I scare easily.
11. I am easily frustrated. Eu fico facilmente chateado. I get frustrated easily. Eu fico facilmente chateado. I get frustrated easily.
12. I tend to remain excited or moved for a long period of time after seeing a good movie.
Depois de assistir a um bom filme, fico animado ou comovido por bastante tempo.
Fonte: Elaboração própria.
After watching a good movie, I remain excited or moved for a long time.
*Versão final avaliada após a etapa da clareza. **Versão final encaminhada ao autor do instrumento.
Depois de assistir a um bom filme, fico animado ou comovido por bastante tempo.
After watching a good movie, I remain excited or moved for a long time.
Um total de 76 alunos foram incluídos nessa etapa do estudo, sendo divididos em três grupos de acordo com a fase de desenvolvimento: trinta crianças com faixa etária dos 8 a 10 anos, mediana (intervalo interquartil) de 9 (8-10) anos, sendo que 17 (57%) eram meninas; 26 pré-adolescentes entre 11 a 14 anos, mediana de 11 (11-12,25) anos, e 14 (54%) eram meninas; e vinte adolescentes entre 15 a 17 anos, mediana de 16 (15-16) anos, e 13 (65%) eram meninas.
Os resultados da avaliação da clareza da APS estão apresentados na Tabela 1 e mostram que houve diferença significativa de entendimento entre as faixas etárias nas questões 3, 4, 6, 8, 9 e 11. Observa-se que os adolescentes (acima de 14 anos) apresentaram melhor
clareza sobre as questões que os pré-adolescentes (entre 11 e 14 anos), que foram os que tiveram pior entendimento das questões em geral.
Tabela 1 – Resultado da avaliação da clareza, considerando “Entendi” ou “Entendi muito” das questões da versão pré-final da APS de acordo com as faixas etárias. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil – 2012
Ponderando que um dos fatores para um pior entendimento das questões poderia estar relacionado aos alunos, foi realizada uma análise de correlação entre a clareza e o desempenho escolar, considerando a repetência em anos. Foi encontrada correlação significativa negativa somente na questão 5 (r = 0,469; p = 0,016), entre os pré-adolescentes (Tabela 2).
Tabela 2 – Correlação entre a clareza da versão pré-final da APS e o desempenho escolar dos alunos por faixa etária. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil – 2012
Tabela 2 – Correlação entre a clareza da versão pré-final da APS e o desempenho escolar dos alunos por faixa etária. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil – 2012 (conclusão)
Considerando os resultados encontrados, foi realizada uma segunda avaliação com o comitê de especialistas, que sugeriram as seguintes modificações para a questão 3: foram retiradas as palavras “efeito” (effect) e “inesperado” (sudden) – que foi trocada por “nova” (new)
, a ordem da frase da versão pré-final foi invertida para um melhor entendimento. Outras modificações foram: na questão 5, retirada da palavra “inquieto” (restless); e na 6, trocou-se “influencia” (influenced) para “afeta” (affects) (Quadro 1 – última coluna).
Após a inclusão das modificações, a versão final foi retraduzida e enviada para o autor da APS, que aprovou as alterações realizadas, finalizando a fase de adaptação transcultural da APS para o português falado no Brasil, agora denominada de Escala de Predisposição de Resposta a Estímulos (Apêndice).
Consistência interna
Para avaliação da consistência interna, foi utilizada a versão final da APS. Participaram dessa fase do estudo 189 escolares: 63 crianças com faixa etária dos 8 a 10 anos, média de 9,32 (DP = 0,73) anos, sendo que 32 (51%) eram meninas; 63 pré-adolescentes entre 11 e 14 anos, média de 12,30 (DP = 1,10) anos e 38 (60%) eram meninas; 63 adolescentes entre 14 e 18 anos incompletos, média de 15,84 (DP = 0,82) e 34 (54%) eram meninos.
A consistência interna da escala APS total foi aceitável, com alfa de Cronbach (α) acima de 0,700 para pré-adolescentes e adolescentes (Tabela 3). Entretanto, os resultados indicaram que a consistência interna da APS para crianças entre 8 e 10 anos foi abaixo do aceitável para todas as questões.
Tabela 3 – Avaliação da confiabilidade da versão final da APS em português falado no Brasil. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil – 2012
A estabilidade ao longo do tempo foi verificada por meio da confiabilidade intra-avaliadores (teste-(re)teste). Dessa forma, a APS foi aplicada novamente a 30 alunos, selecionados da amostra, sendo que foram 10 de cada faixa etária para representarem os três grupos.
Não foi observada diferença significativa na média (desvio padrão) do total da APS no grupo das crianças [teste = 31,0 (DP = 7,16) versus reteste = 29,5 (DP = 7,39); p = 0,146]; nos pré-adolescentes [teste = 30,0 (DP = 7,57) versus reteste = 34,6 (DP = 9,24); p = 0,078] e no grupo dos adolescentes [teste = 32,6 (DP = 6,61) versus reteste = 29,9 (DP = 6,47); p = 0,144], comprovando a estabilidade da escala APS adaptada para o português do Brasil ( Figura 1 ).
Validade de critério
Ao serem comparados os escores totais da APS com os escores da escala concorrente a SDQ, obteve-se correlação significativa em diferentes domínios, os quais estão apresentados na Tabela 4. A APS apresentou correlação forte no domínio emocional para os pré-adolescentes (p < 0,001), moderada para os adolescentes (p < 0,001) e fraca para as crianças (p = 0,002).
Tabela 4 – Correlação entre a APS e Questionário de Capacidades e Dificuldades (SDQ) para verificar a validade de critério. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil – 2012
Com relação aos problemas de conduta, a correlação da APS foi moderada para os pré-adolescentes (p = 0,001), fraca para as crianças (p = 0,018) e para os adolescentes (p = 0,021). A hiperatividade apresentou correlação moderada nas crianças e pré-adolescentes (p = 0,005 e < 0,001, respectivamente) e não com adolescentes (p = 0,600). Porém, foram os adolescentes que apresentaram correlação significativa fraca no domínio social (p = 0,019) e de relacionamento (p = 0,023).
Após o processo de tradução e adaptação semântica da APS, a versão final da escala demonstrou boa clareza das questões por parte dos grupos estudados, considerando que a escala foi construída e validada originalmente para adultos.1-2
Entretanto, observou-se um pior nível de clareza entre os pré-adolescentes nas 12 questões de maneira geral, quando comparados com as crianças e os adolescentes. Esse fato pode estar relacionado ao processo de transição da infância para adolescência, tendo em vista que nessa fase ocorrem inúmeras mudanças físicas, fisiológicas, cognitivas e sociais, que podem afetar a capacidade de autopercepção desse jovem16. Os itens que apresentaram um menor nível de clareza foram as questões 3 e 9, porém não foi encontrada relação com a capacidade de interpretação e entendimento do instrumento verificado com desempenho escolar.
Particularmente neste estudo, além da tradução da escala, também foi proposta a adaptação da APS para outra faixa etária12,17, exigindo uma linguagem específica para o entendimento de crianças e adolescentes18. Cabe ressaltar também a etapa de avaliação da clareza para a adequação semântica, que possibilitou a continuidade da adaptação da versão brasileira da APS.
Com relação à avaliação das propriedades psicométricas, foi possível confirmar que a consistência interna era aceitável para a faixa etária acima de 11 anos. O grupo de crianças entre 8 e 10 anos apresentou um menor alfa de Cronbach, enquanto os adolescentes apresentaram o maior valor, ou seja, observou-se que a faixa etária interferiu no processo de autopercepção das respostas. O desempenho em relação à confiabilidade foi o esperado, tendo em vista que crianças até 10 anos podem apresentar menor capacidade para o raciocínio abstrato, diferentemente dos adolescentes, que já têm um raciocínio mais desenvolvido sobre problemas abstratos e hipotéticos19. Além disso, no estudo original2, o que validou a APS em adultos, o alfa de Cronbach apresentou um valor de 0,83, sugerindo que haja um maior coeficiente de acordo com a idade.
Tais resultados corroboram os achados de outro estudo que, ao avaliar crianças, pais e professores a fim de validar a Escala de Habilidades Sociais, Comportamentos Problemáticos e Competência Acadêmica (Social Skills Rating System – SSRS), também constatou o menor valor do alfa de Cronbach entre as crianças20. A confiabilidade intra-avaliadores (teste-(re)teste) confirmou a estabilidade ao longo do tempo, evidenciando que a APS pode ser uma escala válida para rastrear ou identificar predisposição de resposta a estímulos externos em crianças, pré-adolescentes e adolescentes.
A utilização do SDQ para verificar a validade de critério da APS apresentou correlação de moderada a forte, principalmente nos domínios relacionados ao estado emocional e à conduta nos três grupos estudados. O SDQ também foi utilizado na validação da SCARED para o português, com vistas a mensurar a ansiedade em crianças e adolescentes, e os resultados foram semelhantes ao deste estudo nos mesmos domínios21. No domínio da hiperatividade do grupo dos adolescentes, não foi encontrada correlação significativa. A falha de correlação da APS com o SDQ nesse domínio está de acordo com um estudo recente que avaliou o impacto da transição da infância para adolescência na trajetória de desenvolvimento dos sintomas de TDAH. Os achados evidenciaram que ocorre um declínio da sintomatologia do comportamento hiperativo/impulsivo nessa fase22.
Assim, a APS adaptada para o Brasil, comparada a outro instrumento, apresentou convergência alta para os problemas internalizantes e moderada para os problemas externalizantes. Logo, a APS torna-se uma escala viável para rastrear diferenças individuais de resposta a estímulos em situações de estresse.2,3
No Brasil, não existem instrumentos validados com a finalidade da APS23
De fato, essa escala torna viável e de baixo custo a avaliação precoce de resposta a estímulo, podendo ser utilizada não só por profissionais especializados em psicologia comportamental, mas também por diferentes profissionais da área da saúde em contextos diversos, como em escolas ou na atenção primária em saúde1.
Como limitação do presente estudo, pode-se mencionar o fato de que foram pesquisados apenas estudantes de escolas públicas, enquanto um ponto forte está na adaptação transcultural de um instrumento breve, de fácil aplicação, que seguiu o processo metodológico de validação de instrumentos13 em ambiente escolar, com atuação da atenção básica.
A APS foi traduzida, adaptada e validada no Brasil para o grupo etário de 11 anos de idade. A versão final traduzida e adaptada transculturalmente da APS para mensurar níveis
de respostas a estímulos em adolescentes acima de 11 anos agora se denomina em português Escala de Predisposição de Resposta a Estímulos (Epre).
Espera-se que a utilização dessa escala por diferentes setores de saúde e da educação, em escolas de ensino fundamental e médio, contribua para identificar precocemente problemas de comportamento, e que a saúde pública por meio da iniciativa da atenção básica possa usar esse instrumento como uma ferramenta de rastreio, abrindo espaços de discussões e intervenções para saúde mental na escola.
1. Concepção do projeto, análise e interpretação dos dados: Ana Carolina Brunatto Falchetti Campos, Nanucha Teixeira da Silva, Stanley Coren e Elizeth Heldt
2. Redação do artigo e revisão crítica relevante do conteúdo intelectual: Ana Carolina Brunatto Falchetti Campos e Elizeth Heldt.
3. Revisão e/ou aprovação final da versão a ser publicada: Ana Carolina Brunatto Falchetti Campos.
4. Ser responsável por todos os aspectos do trabalho na garantia da exatidão e integridade de qualquer parte da obra: Ana Carolina Brunatto Falchetti Campos e Elizeth Heldt.
1. Coren S. Arousal predisposition as a predictor of antisocial and delinquent behavior. Pers Individ Dif. 1999;27(5):815-20.
2. Coren S. Prediction of insomnia from arousability predisposition scores: scale development and cross-validation. Behav Res Ther. 1988;26(5):415-20.
3. Coren S, Aks DJ. Prediction of task-related arousal under conditions of environmental distraction. J Appl Soc Psychol 1991;21(3):189-97.
4. Coren S. The arousal predisposition scale: normative data. Bull Psychon Soc. 1990;28(6):551-2.
5. Woods S, White E. The association between bullying behaviour, arousal levels and behaviour problems. J Adolesc. 2005;28(3):381-95.
6. Cia F, Barham EJ, Fontaine AMGV. Impactos de uma intervenção com pais: o desempenho acadêmico e comportamento das crianças na escola. Psicol Reflex Crit. 2010;23(3):533-43.
7. Wielewicki A. Problemas de comportamento infantil: importância e limitações de estudos de caracterização em clínicas-escolas brasileiras. Temas Psicol. 2011;19(2):379-89
8. Kruizinga I, Jansen W, Carter AS, Raat H. Evaluation of an early detection tool for social-emotional and behavioral problems in toddlers: The Brief Infant Toddler Social and Emotional Assessment – A cluster randomized Trial. BMC Public Health 2011;11(494):1-6.
9. Olds D, Henderson CR Jr, Cole R, Eckenrode J, Kitzman H, Luckey D, et al. Long-term effects of nurse home visitation on children’s criminal and antisocial behavior: 15-year follow-up of a randomized trial. JAMA. 1998;280(14):1238-44.
10. Olds DL, Kitzman H, Cole R, Robinson J, Sidora K, Luckey DW, et al. Effects of nursing home-visiting on maternal life course and child development: age 6 follow-up results of a randomized trial. Pediatrics. 2004;114(6):1550-9.
11. Mendes CS. Prevenção da violência escolar: avaliação de um programa de intervenção. Rev Esc Enferm USP. 2011;45(3):581-8.
12. Beaton DE, Bombardier C, Guillemin F, Ferraz MB. Guidelines for the process of cross-cultural adaptation of self-report measures. Spine. 2000;25(24):3186-91.
13. Pasquali L. Psicometria: teoria dos testes na psicologia e na educação. 5a ed. Petrópolis (RJ): Vozes; 2004.
14. Streiner DL, Norman GR. Health measurement scales: a practical guide to development and use. 4th ed. New York: Oxford Press; 2008.
15. Fleitlich BW, Cortázar PG, Goodman R. Questionário de Capacidades e Dificuldades (SDQ). Infanto Rev Neuropsiquiatr Infanc Adolesc. 2000;8(1):44-50.
16. Frota AMMC. Diferentes concepções da infância e adolescência: a importância da historicidade para sua construção. Estud Pesqui Psicol. 2007;7(1):144-57.
17. Silva FC, Thuler LCS. Tradução e adaptação transcultural de adaptação e tradução de duas ferramentas de avaliação de dor em crianças e adolescentes. J Pediatr. 2008;84(4):344-9.
18. Valentini NC, Villwock G, Vieira LF, Vieira JLL, Barbosa MLL. Validação brasileira da escala de autopercepção de Harter para crianças. Psicol Reflex Crit. 2010;23(3):11-9.
19. Bock AMB, Furtado O, Teixeira MLT. Psicologias: uma introdução ao estudo de Psicologia. 15a ed. São Paulo (SP): Saraiva; 2002.
20. Bandeira M, Prette ZAPD. Petre D, Magalhães T. Validação das escalas de habilidades sociais, comportamentos problemáticos e competência acadêmica (SSRS-BR) para o ensino fundamental. Psic Teor Pesq. 2009;25(2):271-82.
21. Isolan LR. Ansiedade na infância e adolescência e bullying escolar em uma amostra comunitária de crianças e adolescentes. Porto Alegre (RS). Tese [Doutorado em Psiquiatria] – Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 2012.
22. Langberg JM, Epstein JN, Altaye M, Molina BSG, Arnold LE, Vitiello B. The transition to middle school is associated with changes in the developmental trajectory of ADHD symptomatology in young adolescents with ADHD. J Clin Child Adolesc Psychol. 2008;37(3):651-63.
23. Bolsoni-Silva AL, Loureiro SN, Marturano EM. Problemas de comportamento e habilidades sociais infantis: modalidades de relatos. Psico. 2011;42(3):354-361.
Recebido: 28.4.2019. Aprovado: 7.1.2021.
Apêndice – Versão final adaptada para o português do Brasil. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil
Escala de Predisposição de Resposta a Estímulos
Instruções: este questionário trata de alguns comportamentos comuns e autopercepções. Para cada questão, você deverá selecionar a resposta que melhor descreva a si mesmo(a) e seus comportamentos. Você pode selecionar uma das seguintes alternativas
N – Nunca (ou quase nunca)
R – Raramente
O – Ocasionalmente (às vezes)
F – Frequentemente
S – Sempre (ou quase sempre)
Basta que você faça um círculo ao redor da primeira letra que corresponda à sua escolha:
1 Eu sou uma pessoa calma.
2 Eu fico confuso(a) quando tenho várias coisas para fazer ao mesmo tempo.
3 Qualquer tipo de novas mudanças causa uma emoção imediata em mim.
N R O F S
N R O F S
N R O F S
4 Emoções fortes duram por uma ou duas horas depois que passa a situação que as causou. N R O F S
5 Eu sou nervoso(a).
6 Chegar a lugares novos afeta rapidamente minhas emoções.
7 Eu fico animado(a) com facilidade.
N R O F S
N R O F S
N R O F S
8 Depois que fico agitado, sinto que meu coração fica batendo mais rápido por um certo tempo. N R O F S
9 Coisas que as pessoas acham bobagem me emocionam.
N R O F S
10 Eu me assusto com facilidade. N R O F S
11 Eu fico facilmente chateado(a). N R O F S
12 Depois de assistir a um bom filme. fico animado(a) ou comovido(a) por bastante tempo. N R O F S
Os itens são pontuados em ordem ascendente, com “nunca” igual a 1 e “sempre” igual a 5. Com exceção do item número 1, o qual é pontuado de maneira inversa. O escore final de um indivíduo é simplesmente a soma das respostas para os 12 itens.
Karina Garbina
https://orcid.org/0000-0002-1294-7811
Dáfne dos Santos Ribeirob
https://orcid.org/0000-0003-3182-9615
Matheus Santos Gomes Jorgec
https://orcid.org/0000-0002-4989-0572
Marlene Doringd
https://orcid.org/0000-0001-8551-8551
Marilene Rodrigues Portellae
https://orcid.org/0000-0002-8455-7126
Lia Mara Wibelinger f
https://orcid.org/0000-0002-7345-3946
Resumo
A prevalência de doenças crônicas de caráter osteoarticular aumenta conforme o avanço da idade, tais como o reumatismo e a osteoporose, especialmente nas instituições de longa permanência. Essas complicações musculoesqueléticas podem causar impacto sobre a força de
a Fisioterapeuta. Mestre em Envelhecimento Humano pela Universidade de Passo Fundo. Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil. E-mail: kaahh.garbin@gmail.com
b Fisioterapeuta. Mestre em Envelhecimento Humano pela Universidade de Passo Fundo. Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil. E-mail: daafne.ribeiro@gmail.com
c Fisioterapeuta. Doutorando em Envelhecimento Humano pela Universidade de Passo Fundo. Docente do Curso de Fisioterapia, do Curso de Educação Física e do Programa de Residência Multiprofissional Integrada em Saúde do Idoso da Universidade de Passo Fundo. Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil. E-mail: matheusjorge@upf.br
d Enfermeira. Doutora em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo. Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil. E-mail: doring@upf.br
e Enfermeira. Doutora em Enfermagem pela Universidade Federal de Santa Catarina. Docente do Curso de Enfermagem e do Programa de Pós-Graduação em Envelhecimento Humano pela Universidade de Passo Fundo. Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil. E-mail: portella@upf.br f Fisioterapeuta. Doutora em Gerontologia Biomédica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Docente do Curso de Fisioterapia e do Programa de Pós-Graduação em Envelhecimento Humano da Universidade de Passo Fundo. Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil. E-mail: liafisio@upf.br Endereço para correspondência: Universidade de Passo Fundo. Rua Rio de Janeiro, n. 797, Ipiranga. Soledade, Rio Grande do Sul, Brasil. CEP: 99300-000. E-mail: matheusjorge@upf.br
preensão manual dos indivíduos e, por consequência, sobre sua capacidade funcional, independência e qualidade de vida. O objetivo desta pesquisa é avaliar a força de preensão manual de idosos institucionalizados com doenças osteoarticulares. Trata-se de um estudo transversal, de base populacional, de natureza descritiva e exploratória, realizado em instituições de longa permanência de Passo Fundo (RS) no período de 2016 a 2018. A amostra foi composta de 68 residentes, avaliados quanto às variáveis sociodemográficas e de saúde (registros médicos), à condição cognitiva (miniexame de estado mental), à capacidade funcional (índice Katz) e à força de preensão manual (dinamometria manual). A análise utilizou a estatística descritiva, o teste t de Student de amostras pareadas e o teste t Student de amostras independentes (p ≤ 0,05). Os idosos apresentaram força de preensão palmar máxima de 6,60 kg ± 5,88 kg (mão direita: 6,02 kg ± 5,78 kg; mão esquerda: 4,50 kg ± 4,47 kg; p = 0,046). Os menores valores de força de preensão manual foram observados nos indivíduos do sexo feminino (força de preensão máxima e bilateral), com declínio cognitivo (força de preensão máxima e na mão direita) ou com dependência grave (força de preensão na mão esquerda) (p ≤ 0,05). Foi identificado que idosos institucionalizados com doenças osteoarticulares apresentam valores de força de preensão manual muito abaixo do esperado, principalmente idosos do sexo feminino, com declínio cognitivo ou com dependência funcional grave.
Palavras-chave: Idoso. Doenças reumáticas. Osteoporose. Força da mão. Instituição de longa permanência para idosos.
Abstract
Chronic osteoarticular diseases, such as rheumatism and osteoporosis, increase in prevalence with aging, especially in long-term institutions. These musculoskeletal complications can affect the individual’s manual grip strength and consequently their functional capacity, independence and quality of life. Hence, this study evaluates the hand grip strength of institutionalized older adults with osteoarticular diseases. A cross-sectional, population-based research was carried out at longterm institutions in Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brazil, between 2016 and 2018. The sample comprised 68 patients, evaluated for sociodemographic and health variables (medical records), cognitive status (Mini Mental State Examination), functional capacity (Katz Index) and manual grip strength (manual dynamometry). Statistical analysis used descriptive statistics, Student’s t-test paired samples and Student’s t-test of independent samples (p ≤ 0.05). Older adults showed a maximum
hand grip strength of 6.60 ± 5.88 kg (right hand: 6.02 ± 5.78 kg; left hand: 4.50 ± 4.47 kg; p = 0.046). Women presented the lowest hand grip strength values observed (maximal and bilateral grip strength), with cognitive decline (maximal grip strength and right hand) or with severe dependence (left hand grip strength) (p ≤ 0.05). In conclusion, institutionalized older adults with osteoarticular diseases present manual grip strength values much lower than the expected, especially the women, with cognitive decline or with severe functional dependence.
Keywords: Aged. Rheumatic diseases. Osteoporosis. Hand strength. Homes for the aged.
FUERZA DE AGARRE EN ANCIANOS INSTITUCIONALIZADOS CON ENFERMEDADES OSTEOARTICULARES
La prevalencia de enfermedades crónicas osteoarticulares aumenta concomitantemente al avance de la edad, tales como el reumatismo y la osteoporosis, especialmente en las instituciones de larga permanencia. Estas complicaciones musculoesqueléticas pueden impactar en la fuerza de agarre de los individuos y, por consiguiente, sobre su capacidad funcional, independencia y calidad de vida. El objetivo de esta investigación es evaluar la fuerza de agarre de ancianos institucionalizados con enfermedades osteoarticulares. Se trata de un estudio transversal, de base poblacional, de tipo descriptivo y exploratorio, realizado en instituciones de larga permanencia de Passo Fundo, en Rio Grande do Sul (Brasil), en el periodo de 2016 a 2018. La muestra fue compuesta por 68 residentes, evaluados en cuanto a las variables sociodemográficas y de salud (registros médicos), la condición cognitiva (miniexamen de estado mental), la capacidad funcional (Índice Katz) y la fuerza de agarre (dinamometría manual). Para el análisis, se utilizó la estadística descriptiva, la prueba t de Student de muestras pareadas y la prueba t Student de muestras independientes (p ≤ 0,05). Los ancianos presentaron fuerza de agarre máxima de 6,60 kg ± 5,88 kg (Mano derecha: 6,02 kg ± 5,78 kg; Mano izquierda: 4,50 kg ± 4,47 kg; p = 0,046). Los menores valores de la fuerza de agarre se observaron en las personas del sexo femenino (fuerza de agarre máxima y bilateral), con declinación cognitiva (fuerza de agarre máxima y en la mano derecha) o con dependencia grave (fuerza de agarre en la mano izquierda) (p ≤ 0,05). Los ancianos institucionalizados con enfermedades osteoarticulares presentaron valores de fuerza de agarre muy por debajo de lo esperado, principalmente en los ancianos del sexo femenino, con declinación cognitiva o con dependencia funcional grave.
Palabras clave: Ancianos. Enfermedades reumáticas. Osteoporosis. Fuerza de la mano. Hogares para ancianos.
O termo idoso refere-se a um seleto grupo de indivíduos com 65 anos ou mais em países desenvolvidos e 60 anos em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como é o caso do Brasil1. As estimativas apontam que o número de idosos brasileiros chegará a 32 milhões nos próximos cinco anos2
O envelhecimento humano é um processo progressivo no qual ocorrem comprometimentos moleculares e celulares irreversíveis dos sistemas fisiológicos3. Com a insuficiência dos processos fisiológicos e as mudanças da atividade celular, tecidual e sistêmica ocorrem alterações no sistema neuromuscular, manifestado pela redução da massa e da força muscular, da flexibilidade, da resistência, da mobilidade, da coordenação e do controle sobre o equilíbrio4
A força muscular, determinada pela quantidade de sarcômeros no músculo, é influenciada por fatores como idade, gênero, características antropométricas e aspectos fisiológicos do tecido muscular5,6. A morte dos motoneurônios, oriunda da inatividade muscular, pode repercutir na perda de massa muscular geral e, consequentemente, da musculatura envolvida na força de preensão manual (FPM)7. A força das mãos é um dos aspectos funcionais mais importantes, pois permite ao idoso manter sua independência e qualidade de vida. Sua diminuição está ligada diretamente à redução da capacidade funcional, aumento de incapacidades e impacto sobre as atividades da vida diária8
Com o aumento do número de idosos ocorre a elevação nos índices de dependência funcional, principalmente em virtude do surgimento de doenças ligadas ao sistema locomotor, como a osteoporose e outras patologias de origem reumáticas (espondiloartrose e osteoartrite)9,10. Além do aumento do impacto na capacidade física ocorre declínio sobre os aspectos cognitivos e mentais nos indivíduos. Assim, muitas famílias ou pessoas próximas não têm a disponibilidade de ofertar um padrão de vida adequado para o idoso, sendo necessário outras formas de cuidado, como é o caso das Instituições de Longa Permanência para Idosos (Ilpi), um serviço governamental ou não governamental voltado para idosos com ou sem condições de moradia, cuja finalidade é oferecer alojamento e prestação de serviços à saúde, segundo as definições da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG)11,12. Nesse sentido, torna-se indispensável a avaliação e o monitoramento dessa população, pois a diminuição da FPM pode resultar em importantes consequências à saúde física, psíquica, emocional e social dos idosos, especialmente naqueles residentes em Ilpi ou que tenham alguma patologia ligada ao sistema musculoesquelético.
Abordar tais aspectos pode favorecer a construção de programas preventivos e reabilitativos voltados às limitações funcionais dos idosos institucionalizados com doenças
crônicas13. Com base nos aspectos abordados, o objetivo deste estudo foi avaliar a FPM em idosos institucionalizados com doenças osteoarticulares.
Este estudo é transversal, de base populacional, de natureza descritiva e exploratória, faz parte do projeto “Padrões de envelhecimento e longevidade: aspectos biológicos, educacionais e psicossociais de idosos institucionalizados (Procad)”, desenvolvido pelo Programa de Pós-Graduação em Envelhecimento Humano da Universidade de Passo Fundo. Os detalhes sobre o local de realização deste estudo foram descritos anteriormente14. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos da Universidade de Passo Fundo, sob parecer número 2.097.278, e está de acordo com as diretrizes da Resolução 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde, que trata das normas regulamentadoras e dos aspectos éticos das pesquisas envolvendo seres humanos.
Para o cálculo amostral, realizou-se um cálculo por meio da fórmula “n = Z2 p (1-p) / e2”, em que a letra “n” corresponde ao tamanho amostral desejado, a letra “Z” corresponde ao desvio do valor médio aceitável para alcançar o nível de confiança desejado (adotado o valor mais comumente utilizado para este tipo de cálculo: 1,96), a letra “p” corresponde à proporção esperada (adotado o valor de 5,74%, levando-se em consideração os registros oficiais do governo brasileiro15) e a letra “e” corresponde à margem de erro admitida (adotado o valor mais comumente utilizado para este tipo de cálculo: 0,05). Assim, o tamanho amostral necessário para responder ao objetivo deste trabalho seria de aproximadamente 83 indivíduos.
Foram incluídos os indivíduos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, independentemente do tempo de residência na instituição e que apresentassem uma ou mais doenças osteoarticulares e/ou reumáticas. Os critérios de exclusão estabelecidos foram para indivíduos que estivessem hospitalizados no dia do encontro com a equipe de pesquisa, indivíduos que não compreendessem e/ou falassem a língua portuguesa, indivíduos com incapacidades cognitivas ou motoras para realizar o teste de dinamometria manual ou indivíduos com doenças crônico-degenerativas em fase exacerbada. Foram consideradas perdas os indivíduos elegíveis que se recusaram a participar. Todos os indivíduos incluídos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), mediante prévia explicação e esclarecimento de dúvidas.
O período da coleta de dados foi entre dezembro de 2016 e julho de 2018. O procedimento de coleta de dados e a elaboração do instrumento de coleta de dados já foi descrito14. Os dados sociodemográficos e de saúde constaram em um questionário elaborado
pelos próprios autores, onde registrou-se o sexo, a idade, o tipo de Ilpi, a escolaridade e o tipo de doença osteoarticular.
O estado cognitivo foi avaliado por meio do miniexame de estado mental, um questionário composto de trinta perguntas agrupadas em sete categorias (orientação temporal e espacial, atenção, resolução de cálculos, memorização e rememoração de palavras, forma de linguagem e prática visuoconstrutiva)16, com escores de corte ajustados conforme a escolaridade (13 pontos para analfabetos, 18 pontos para idosos com um a oito anos de estudos e 26 pontos para idosos com nove ou mais anos de estudo)17
A capacidade funcional foi avaliada por meio do índex de Katz, um instrumento que mensura as atividades de vida diária em seis funções (banhar-se, vestir-se, ir ao banheiro, transferências, controle esfincteriano e alimentação), que podem fornecer informações sobre as condições funcionais do indivíduo. Os idosos foram classificados como independentes se realizassem qualquer uma das atividades sem supervisão, orientação ou auxílio direto, ou como dependentes conforme o número de funções que necessitasse de ajuda18
A FPM foi avaliada por meio da dinamometria manual, com um aparelho da marca Kratos®, destinado a mensurar a força de preensão da mão produzida por meio de uma contração isométrica registrada em quilogramas (kg)19. Nesta pesquisa, adotaram-se o posicionamento e os procedimentos avaliativos recomendados pela American Society of Hand Therapists20. Os pontos de corte adotados para a normalidade foram de 30 kg para homens e 20 kg para mulheres, conforme especifica o European Working Group on Sarcopenia in Older People21.
Os dados foram codificados e armazenados em um banco de dados em um software estatístico. Para caracterização da amostra empregou-se estatística descritiva. Para verificar a diferença entre os valores de FPM das mãos direita e esquerda realizou-se a análise por meio do teste t de amostras pareadas, e para verificar a relação entre as variáveis quantitativas e qualitativas realizou-se a análise por meio do teste t de Student de amostras independentes. O nível de significância adotado foi de p ≤ 0,05.
A população do estudo foi composta de 281 idosos residentes em Ilpi no município de Passo Fundo (RS). Com base nos critérios de inclusão e exclusão, a amostra envolveu 68 idosos institucionalizados, com média de idade média de 81,60 ± 91,8 anos (61-95). Foram excluídos 26 idosos institucionalizados que não conseguiram realizar o teste de dinamometria manual, totalizando uma perda amostral de aproximadamente 38%. A Tabela 1 apresenta os dados referentes à caracterização da amostra estudada.
Fonte: Elaboração própria.
Legenda: N (valor absoluto); % (valor relativo); média ± desvio
A maioria da amostra foi composta de indivíduos do sexo feminino, longevos, residentes em Ilpi privadas e com um a oito anos de estudos. Quanto às medidas antropométricas, os valores do peso, da altura e do índice de massa corporal demonstraram-se dentro do esperado. Já os valores de FPM foram muito inferiores ao esperado para a população idosa. Ainda, a maioria da amostra apresentou declínio cognitivo e dependência funcional grave. Entre as patologias investigadas, a maioria apresentou diagnóstico de reumatismo, seguido de osteoporose ou ambas as condições associadas. A Tabela 2 apresenta os valores de FPM da amostra estudada.
Fonte: Elaboração própria.
Legenda: média ± desvio padrão; FPM (força de preensão manual); kg (quilogramas); * (≤ 0,05)
Os idosos institucionalizados apresentaram valores de FPM muito abaixo do ponto de corte, sendo que nenhum indivíduo atingiu o ponto de corte mínimo de acordo com o sexo. Ainda, os menores valores de FPM foram verificados na mão esquerda, em relação à direita. A Tabela 3 apresenta os valores de FPM analisados sob diferentes aspectos.
Tabela 3 – Valores de força de preensão manual analisados sob diferentes aspectos.
Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil – 2019
Fonte:
Observou-se que os idosos institucionalizados que apresentaram menores valores de FPM eram do sexo feminino (menor FPM máxima e nas mãos direita e esquerda), apresentavam declínio cognitivo (menor FPM máxima e na mão direita) ou dependência grave (menor FPM na mão esquerda).
Neste trabalho, verificou-se que os idosos institucionalizados com doenças osteoarticulares apresentaram valores de FPM muito abaixo do esperado, que são 30 kg para homens e 20 kg para mulheres21
Apesar de a literatura apontar que idosos institucionalizados apresentam menores valores de FPM em relação aos seus pares na comunidade22, essa informação parece ser ainda mais consistente após apresentação dos resultados desta análise, pois os valores da FPM apresentados foram muito baixos, inclusive em relação aos valores de FPM encontrados em outros estudos realizados com idosos da comunidade, mesmo em portadores de patologias23,24. Acredita-se que os valores encontrados de FPM tão abaixo do esperado nesta pesquisa possam ser explicados pelo fato de que indivíduos com doenças osteoarticulares apresentam menor desempenho físico quando comparados a indivíduos não portadores dessa condição. Ainda, homens e mulheres com osteoporose ou osteopenia apresentam maior risco de perda do desempenho físico comparados aos seus pares sem a doença25. Dessa forma, supõe-se que com o menor desempenho físico ocorra a tendência de diminuir a força muscular generalizada, inclusive das mãos. Todavia, análises mais aprofundadas voltadas a essa questão devem ser realizadas para confirmar categoricamente essa hipótese.
Uma pesquisa realizada com idosos com osteoporose demonstrou que eles apresentaram valores de FPM inferiores a idosos sem a doença na mão direita (22,09 kgf e 25,16 kgf, respectivamente; p < 0,05) e na mão esquerda (20,00 kgf e 23,37 kgf, respectivamente; p < 0,05)26. Apesar de termos estudado apenas idosos com doenças osteoarticulares (reumatismo, osteoporose ou ambas associadas) e de não termos diferenciado os valores de acordo com as patologias, nossos resultados encontram-se inferiores aos do estudo supracitado.
Alguns fatores podem ser determinantes sobre a FPM do indivíduo, como a idade, o sexo, a densidade mineral óssea e a funcionalidade27, razão pela qual foram investigados outros aspectos para identificar fatores que estivessem relacionados à FPM nesses indivíduos. Além disso, as mãos são estruturas com funções particulares e fundamentais para as atividades diárias do indivíduo e podem ser acometidas por doenças reumáticas, popularmente conhecidas como reumatismos, causando alterações fisiológicas, biomecânicas e sintomas importantes, entre as quais podem-se citar a artrite reumatoide, a esclerose sistêmica e a osteoartrite. Além disso, conhecer a patologia e seu impacto na funcionalidade geral e nos aspectos ligados às mãos permite ao profissional elaborar um plano de tratamento adequado às necessidades de cada indivíduo28
A FPM pode ser influenciada pela idade, segundo um estudo que avaliou essa variável em indivíduos de diferentes faixas etárias. Os pesquisadores verificaram que o pico da FPM foi na faixa etária dos 30-39 anos com declínio progressivo a partir de então. Ainda, observaram que o aumento da idade foi um fator determinante para o aumento de doenças e dores crônicas19 Apesar disso, algumas pesquisas demonstraram que os valores de FPM não apresentaram
diferenças em faixas etárias a partir dos 60 anos, tanto no contexto da comunidade24 quanto no contexto da institucionalização29, o que vai ao encontro dos resultados aqui apresentados.
Um estudo avaliou a FPM em 60 idosos institucionalizados e observou que a média dos homens foi de 22,87 kgf (mão direita) e 21,74 kgf (mão esquerda), enquanto a média das mulheres foi de 12,80 kgf (mão direita) e 11,11 kgf (mão esquerda)29, valores muito superiores ao encontrados nesta pesquisa. Todavia, ressalta-se que os pesquisadores do estudo citado não avaliaram uma amostra que apresentasse exclusivamente doenças osteoarticulares.
Nesta investigação, a FPM foi menor nos indivíduos do sexo feminino, informação que já foi demonstrada na literatura, independentemente da faixa etária19. Com relação aos idosos, as pesquisas também confirmam esse achado, tanto nos residentes na comunidade23,24 quanto nos que residem em Ilpi29
A avaliação da função cognitiva e do desempenho físico no idoso, em especial a força muscular, é fundamental para as áreas de saúde pública, gerontologia e geriatria. Assim, uma revisão integrativa analisou a possível relação entre a função cognitiva e a FPM em idosos, na qual demonstrou que as alterações cognitivas podem influenciar na força muscular (principalmente das mãos) de idosos, podendo, assim, afetar aspectos de sua capacidade funcional e, consequentemente, dependência30. Apesar de não especificar o contexto dos idosos, isso vai ao encontro dos resultados aqui observados, em que se verificou que os idosos institucionalizados com declínio cognitivo e dependência funcional grave tiveram menores valores de FPM em relação aos seus pares. Somado a isso, deve-se citar que, em Ilpi, a ocorrência de doenças osteoarticulares pode chegar a ser a segunda comorbidade mais prevalente entre os indivíduos, contribuindo para um elevado índice de dependência dessa população, pois os idosos deste contexto portadores de algum distúrbio musculoesquelético são, geralmente, fisicamente dependentes em todos os aspectos motores13. Isso é um agravante, pois a FPM está diretamente relacionada à realização das atividades de vida diária, como segurar objetos, utilizar um corrimão ou apoios em ônibus, realizar trabalhos domésticos, atividades de autocuidado, entre outras no intuito de manter a funcionalidade e a independência do indivíduo24. Embora não tenham sido encontrados estudos que avaliassem a FPM de idosos institucionalizados em comparação à capacidade funcional, nesta investigação observou-se que os indivíduos com dependência grave apresentaram menores valores de FPM, sendo essa diferença significativa na mão esquerda.
Nesta análise, foram encontrados valores de FPM menores nos idosos residentes em Ilpi filantrópicas. No entanto, essa diferença entre os tipos de Ilpi (privada ou filantrópica) não foi significativa. Na literatura, não foram encontradas outras fontes que tivessem realizado análise sobre
este prisma, o que dificulta o levantamento de hipóteses a respeito do porquê idosos residentes em Ilpi filantrópicas apresentaram valores de FPM inferiores a idosos residentes em Ilpi privadas. Esta pesquisa não está livre de apresentar limitações. Em virtude do grande número de indivíduos avaliados, foi necessária uma numerosa equipe para realizar a coleta de dados, sendo necessários vários entrevistadores para aplicar os questionários e o teste de dinamometria manual. Para minimizar possíveis vieses, eles foram treinados e orientados previamente, como explicado na seção “métodos” em outro trabalho já publicado14. Além disso, o número amostral foi abaixo do estimado, o que pode ter sido um fator influente nos resultados obtidos. Todavia, isso não inviabiliza a geração dos dados e o incentivo a futuras pesquisas sobre essa temática.
Idosos institucionalizados com doenças osteoarticulares apresentam valores de FPM muito abaixo do esperado, principalmente idosos do sexo feminino, com declínio cognitivo ou com dependência funcional grave.
1. Concepção do projeto, análise e interpretação dos dados: Karina Garbin, Dáfne dos Santos Ribeiro, Matheus Santos Gomes Jorge, Marlene Doring, Marilene Rodrigues Portella e Lia Mara Wibelinger.
2. Redação do artigo e revisão crítica relevante do conteúdo intelectual: Karina Garbin, Dáfne dos Santos Ribeiro, Matheus Santos Gomes Jorge, Marlene Doring, Marilene Rodrigues Portella e Lia Mara Wibelinger.
3. Revisão e/ou aprovação final da versão a ser publicada: Karina Garbin, Dáfne dos Santos Ribeiro, Matheus Santos Gomes Jorge, Marlene Doring, Marilene Rodrigues Portella e Lia Mara Wibelinger.
4. Ser responsável por todos os aspectos do trabalho na garantia da exatidão e integridade de qualquer parte da obra: Karina Garbin, Dáfne dos Santos Ribeiro, Matheus Santos Gomes Jorge, Marlene Doring, Marilene Rodrigues Portella e Lia Mara Wibelinger.
1. Papaléo Netto M. O estudo da velhice: histórico, definição do campo e termos básicos. In: Freitas EV, Py L, editores. Tratado de geriatria e gerontologia. 4. ed. Rio de Janeiro (RJ): Guanabara Koogan; 2016. p. 62-75.
2. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Perfil dos idosos responsáveis pelos domicílios no Brasil. Rio de Janeiro (RJ): IBGE; 2010.
3. Kalache A. The world is ageing: a pact of social solidarity is an imperative. Cien Saude Colet. 2008 Jul/Aug;13(4):1107-11.
4. Azevedo LF, Costa-Pereira A, Mendonça L, Dias CC, Castro-Lopes JM. Epidemiology of chronic pain: a population-based nationwide study on its prevalence, characteristics and associated disability in Portugal. J Pain. 2012;13(8):773-83.
5. Hall JE. Guyton and hall textbook of medical physiology. 13. ed. Philadelphia: Saunders Elsevier; 2016.
6. Heffernan KS, Chalé A, Hau C, Cloutier GJ, Phillips EM, Warner P et al. Systemic vascular function is associated with muscular power in older adults. J Aging Res. 2012;2012(1):1-10.
7. Martin FG, Nebuloni CC, Najas MS. Correlation between nutritional status and hand grip strength in elderly. Rev Bras Geriatr Gerontol. 2012;15(3):493-504.
8. Lenardt MH, Carneiro NHK, Betiolli SE, Binotto MA, Ribeiro DKMN, Teixeira FFR. Factors associated with decreased hand grip strength in the elderly. Esc Anna Nery. 2016;20(4):e20160082.
9. Seichi A, Hoshino Y, Doi T, Akai M, Tobimatsu Y, Iwaya T. Development of a screening tool for risk of locomotive syndrome in the elderly: the 25-question Geriatric Locomotive Function Scale. J Orthop Sci. 2012;17(2):163-72.
10. Nakamura K. The concept and treatment of locomotive syndrome: its acceptance and spread in Japan. J Orthop Sci. 2011;16(5):489-91.
11. Bentes ACO, Pedroso JS, Maciel CAB. The elderly in long-stay institutions: a literature review. Aletheia. 2012;1(38–39):196-205.
12. Camarano AA, Kanso S. As instituições de longa permanência para idosos no Brasil. Rev Bras Estud Popul. 2010;27(1):232-5.
13. Dantas CMHL, Bello FA, Barreto KL, Lima LS. Capacidade funcional de idosos com doenças crônicas residentes em Instituições de Longa Permanência. Rev Bras Enferm. 2013;66(6):914-20.
14. Zanin C, Candido JB, Jorge MSG, Wibelinger LM, Doring M, Portella MR. Sarcopenia and chronic pain in institutionalized elderly women. Brazilian J Pain. 2018;1(4):288-92.
15. Hospital Vera Cruz. Doenças reumáticas afetam a vida de mais de 12 milhões de brasileiros [Internet]. 2022 [citado em 2022 abr 5]. Disponível em: http://www.hvc.com.br/noticias/doencas-reumaticas-afetam-a-vida-de-maisde-12-milhoes-de-brasileiros
16. Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR. “Mini-mental state”: a practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiatr Res. 1975;12(3):189-98.
17. Bertolucci PHF, Brucki SMD, Campacci SR, Juliano Y. O Mini-exame do Estado Mental em uma população geral: impacto da escolaridade. Arq Neuropsiquiatr. 1994;52(1):1-7.
18. Katz S, Ford AB, Moskowitz RW, Jackson BA, Jaffe MW. Studies of Illness in the Aged. The Index of ADL: a standardized measure of biological and psychosocial function. JAMA. 1963;185(12):914-9.
19. Jorge MSG, Ribeiro DS, Garbin K, Moreira I, Rodigheri PV, Lima WG et al. Values of handgrip strength in a population of different age groups. Lect Educ Física y Deport. 2019;23(249):56-69.
20. MacDermid J, Solomon G, Valdes K. Clinical assessment recommendations. 3. ed. Mount Laurel: American Society of Hand Therapists; 2015.
21. Cruz-Jentoft AJ, Baeyens JP, Bauer JM, Boirie Y, Cederholm T, Landi F et al. Sarcopenia: European consensus on definition and diagnosis: report of the European working group on Sarcopenia in older people. Age Ageing. 2010;39(4):412-23.
22. Gonzalez CS, Aroca JP. Handgrip strength measurement in institutionalized and not institutionalized elderly people in Cascavel-PR. Rev FIEP Bull –Online. 2008;78(2):116-8.
23. Dresch DR, Tauchert V, Wibelinger LM. Handgrip strength of elderly. Lect Educ Física y Deport. 2014;19(194):1-1.
24. Wagner PR, Ascenço S, Wibelinger LM. Hand grip strength in the elderly with upper limbs pain. Rev Dor. 2014;15(3):182-5.
25. Santos VR, Gobbo LA, Christofaro DGD, Gomes IC, Mota J, Gobbi S et al. Osteoarticular diseases and physical performance of Brazilians over 80 years old. Ciênc Saúde Colet. 2016;21(2):423-30.
26. Mazo GZ, Virtuoso JF, Lima IAX, Meneghini L, Naman M. Associação entre osteoporose e aptidão física de idosos praticantes de exercícios físicos. Saúde (Santa Maria). 2013;39(2):131-40.
27. Nascimento MF, Benassi R, Caboclo FD, Salvador ACS, Gonçalves LCO. Valores de referência de força de preensão manual em ambos os gêneros e diferentes grupos etários. Um estudo de revisão. Lect Educ Física y Deport. 2010;15(151):1-1.
28. Jorge MSG, Knob B, Ribeiro DS, Zanin C, Wibelinger LM. Effects of rehabilitation physiotherapeutic in the hands of individuals with rheumatic diseases: systematic review. Rev Inspirar. 2017;14(3):39-47.
29. Oliveira FB. Força de preensão palmar em idosos institucionalizados do município de Goiânia, Goiás, Brasil: características gerais e relação com Índice de Massa Corporal. Brasília (DF). Dissertação [Mestrado em Ciências da Saúde] – Universidade de Brasília; 2009.
30. Silva N, Menezes TN. The association between cognition and handgrip strength among the elderly: an integrative review. Ciênc Saúde Colet. 2016;21(11):3611-20.
Recebido: 20.5.2019. Aprovado: 20.8.2021.
João Nilton Souza Maiaa
https://orcid.org/0000-0002-4591-5138
Daniela Carneiro Sampaiob
https://orcid.org/0000-0002-0758-0189
Maria da Conceição Costa Rivemalesc
https://orcid.org/0000-0001-7773-4772
Rosa Cândida Cordeirod
https://orcid.org/0000-0002-3912-1569
Terciana Vidal Mourae
https://orcid.org/0000-0003-3772-7724
Lavinya Lima Cordeiro Oliveiraf
https://orcid.org/0000-0003-2478-4869
Resumo
O objetivo deste estudo foi descrever as condições sanitárias relacionadas à moradia em uma comunidade rural do Vale do Jiquiriçá (BA). Trata-se de um estudo descritivo, quantitativo e de corte transversal. Os dados empíricos foram oriundos do sistema de informação em saúde e-SUS, referentes ao ano de 2017, sendo analisados de acordo com a epidemiologia descritiva com o auxílio do Microsoft Excel. Os resultados destacaram disparidades sanitárias da população rural estudada, deficiência na forma de esgotamento
a Enfermeiro. Assistente e Coordenador na Estratégia de Saúde da Família. Amargosa, Bahia, Brasil. E-mail: jnenf@outlook.com b Bacharela em Saúde pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Estudante de Enfermagem na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Santo Antônio de Jesus, Bahia, Brasil. E-mail: daniela_sampaio1305@hotmail.com
c Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Professora Adjunta da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Santo Antônio de Jesus, Bahia, Brasil. E-mail: mariarivemales@hotmail.com
d Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Professora Adjunta da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Santo Antônio de Jesus, Bahia, Brasil. E-mail: rosa.candida@yahoo.com.br
e Pedagoga. Doutora em Ciências da Educação. Professora Adjunta da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Amargosa, Bahia, Brasil. E-mail: tercianavidal@hotmail.com
f Bacharela em Saúde pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Estudante de Enfermagem na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Santo Antônio de Jesus, Bahia, Brasil. E-mail: lavinyalima@outlook.com
Endereço para correspondência:Loteamento Benicio, rua C, n. 43A, Cajueiro. Santo Antônio de Jesus, Bahia, Brasil. CEP: 44430-634. E-mail: daniela_sampaio1305@hotmail.com
sanitário, destino do lixo e acesso aos domicílios. São necessários o planejamento e a elaboração da agenda de saúde local, de modo a contribuir para a qualidade de vida e de saúde da população do campo.
Palavras-chave: População rural. Assistência à saúde. Enfermagem rural.
HOUSING-RELATED SANITARY CONDITIONS OF A RURAL COMMUNITY IN THE JIQUIRIÇÁ VALLEY, BRAZIL
Abstract
This descriptive, quantitative and cross-sectional study describes the housingrelated sanitary conditions of a rural community in the Jiquiriçá Valley, Bahia, Brazil. Empirical data for the year 2017 was collected from the SUS Health Information System, and analyzed by descriptive epidemiology using Microsoft Excel. Results show health disparities in the rural population studied, highlighting deficiencies in sanitary sewage, waste destination and access to households. Planning and developing a local health agenda is necessary to increase the quality of life and health of the rural population.
Keywords: Rural population. Delivery of health care. Rural nursing.
CONDICIONES SANITARIAS RELACIONADAS A LA VIVIENDA EN UNA COMUNIDAD RURAL DEL VALLE DEL JIQUIRIÇÁ, BAHÍA, BRASIL
Resumen
El objetivo del estudio fue describir las condiciones sanitarias relacionadas a la vivienda en una comunidad rural del Valle del Jiquiriçá, en Bahía (Brasil). Se trata de un estudio descriptivo, cuantitativo y de cohorte transversal. Los datos empíricos fueron oriundos del sistema de información en salud e-SUS, referentes al año 2017, y fueron analizados de acuerdo con la epidemiología descriptiva utilizando el Microsoft Excel. Los resultados apuntan a disparidades sanitarias de la población rural estudiada, destacando la deficiencia en la forma de agotamiento sanitario, destino de la basura y acceso a los domicilios. Es necesaria la planificación y elaboración de la agenda de salud local para contribuir a la calidad de vida y de salud de la población del campo.
Palabras clave: Población rural. Atención a la salud. Enfermería rural.
Os conceitos de rural e urbano designam dois tipos de espaços geográficos diferentes com densidades populacionais, fatores demográficos, econômicos e indicadores sociais distintos1. As características da sociedade rural brasileira são de vasta diversidade de cultura, religião, raças e etnias, padrões tecnológicos, sociais e econômicos. Assim, a riqueza do Brasil rural vai além de seus recursos naturais, pois se encontra também na diversidade de sua gente, representada pelas populações tradicionais quilombolas, por povos indígenas, das florestas, do cerrado, do semiárido, da caatinga e dos campos2.
A Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo e da Floresta (PNSIPCF) reafirma o princípio de universalidade do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio de ações de saúde integral, como a garantia constitucional a tais populações3. Para alcançar tal princípio é necessário que ocorra a regionalização e hierarquização, ou seja, “os serviços devem ser organizados em níveis crescentes de complexidade, circunscritos a uma determinada área geográfica, planejados a partir de critérios epidemiológicos, e com definição e conhecimento da população a ser atendida”4.
O estudo de Dias5 discorre sobre as condições gerais de moradia no meio urbano e rural, da população baiana com relação à estrutura dos domicílios: parede, cobertura, abastecimento de água, esgotamento sanitário e destino do lixo. No geral, os domicílios particulares rurais, em sua maioria, são revestidos de alvenaria, cobertos por telhas, o abastecimento de água é por outra fonte que não a rede geral, o escoamento sanitário ocorre por meio de fossas rudimentares e o recolhimento do lixo é feito por empresa de limpeza responsável.
A moradia é uma condição básica de sobrevivência, produção e reprodução social. A Emenda Constitucional nº 26/2000 inclui a moradia no rol dos direitos sociais dos cidadãos. E cabe aos Estados e municípios “promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico”6
No campo e na floresta, ainda existem limitações de acesso e qualidade nos serviços de saúde, bem como deficiência em saneamento ambiental, isto porque a maioria dessas moradias foi construída em locais de difícil acesso, consequentemente há um aumento nas morbidades, e maior porcentagem de indivíduos com diarreia, vômito, dores no braço e na mão, também a falta de esgoto e de água encanada e potável é bem maior do que na área urbana. Nesse sentido, o presente estudo visa descrever as condições sanitárias de uma comunidade rural do Vale do Jiquiriçá (BA).
Trata-se de um estudo descritivo, quantitativo e de corte transversal. O locus do estudo foi uma comunidade rural do Vale do Jiquiriçá (BA), situada no município de Amargosa (BA).
O cenário de pesquisa está localizado entre os três distritos do município, sendo o maior em extensão territorial, assim como economicamente. O local está situado totalmente na zona da mata a uma distância de 18 km da sede do município, rodeado de rios como: o Corta-Mão, Ribeirão e Capivara e seus afluentes. Possui terras produtivas onde se cultivam alimentos que abastecem a feira livre da cidade. A região faz fronteira com o município de São Miguel das Matas, Laje e Elísio Medrado. As atividades produtivas são exclusivamente de agricultura, principalmente cultivo de café, cana-deaçúcar, mandioca, fumo e produtos de subsistência7
A coleta de dados ocorreu a partir dos relatórios oriundos do e-SUS, emitidos pelo centro de processamento de dados da Secretaria Municipal de Saúde do município estudado, referentes ao ano de 2017. A análise dos dados foi realizada a partir da epidemiologia descritiva, e os dados foram tabulados no Microsoft Excel e apresentados a partir da frequência absoluta e relativa.
As variáveis analisadas foram condições de moradia: tipo e acesso ao domicílio; material predominante na construção das paredes externas das residências; disponibilidade de energia elétrica; formas de abastecimento de água; formas de consumo de água; formas de esgotamento do banheiro ou sanitário; destino do lixo e criação de animais no domicílio. Os resultados foram apresentados em gráficos com cada variável individual.
Por se tratar de uma pesquisa a partir de dados secundários não foi necessária a aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos, conforme disposto na Resolução 466/12, artigo XIII e a Resolução 510/16, artigo 1º inciso V.
De acordo com os dados do Sistema de Informação da Atenção Básica (Siab)8, no ano de 2015, o município apresentava população geral de 39.591 habitantes, sendo 28.174 em zona urbana e 11.417 em zona rural. A área delimitada do estudo foi um distrito do município, região da zona rural. Essa região tem cobertura da Estratégia de Saúde da Família, com 647 famílias cadastradas e 2.006 habitantes, composta de uma equipe mínima de saúde da família e Núcleo de Apoio à Saúde da Família9.
A população rural, mesmo com as inovações, atravessou e atravessa dificuldades como: acesso à saúde, à educação e aos serviços essenciais de promoção da vida, além da restrição na acessibilidade aos grandes centros urbanos e práticas sanitárias. Portanto, é necessário que haja a identificação das condições sanitárias em que as comunidades rurais estão inseridas.
As condições sanitárias da comunidade rural estudada revelam a necessidade de planejamento e elaboração da agenda de saúde local, de modo a contribuir para a qualidade de vida e de saúde de seus habitantes.
Gráfico 1 – Condições de moradia: tipo e acesso ao domicílio (n = 647). Santo Antônio de Jesus, Bahia, Brasil – 2018
Fonte: e-SUS (2017).
Com relação ao acesso aos domicílios, o Gráfico 1 indica que, dos 647 domicílios, 557 (86%) apresentam acesso por estrada de chão batido, 61 (9,4%) tem pavimento e 29 (4,5%) não foram informados. Rückert et al.10 enfatizam que as dificuldades de acesso aos serviços de saúde são sentidas nas distâncias entre as comunidades e os serviços de saúde, na escassez de transporte público e na insuficiência de profissionais de saúde, o que por sua vez reflete na baixa resolutividade de situações e problemas de saúde.
O acesso dos moradores da zona rural ao atendimento público de saúde muitas vezes é feito a pé em estradas de chão batido, com condições inadequadas de tráfego, acarretando elevados prejuízos à qualidade da assistência à saúde e ao acesso às políticas de saúde para a população rural, deixando-a vulnerável aos riscos de adoecimento.
As políticas públicas de infraestrutura para o meio rural devem ser pensadas e implementadas pelos órgãos competentes das esferas de governo como política fundamental para contemplar toda população, facilitando o acesso aos serviços de saúde, de educação e para facilitar o escoamento da produção agrícola produzida pela população rural11.
Gráfico 2 – Condições de moradia: material predominante na construção das paredes externas (n = 647). Santo Antônio de Jesus, Bahia, Brasil – 2018
O Gráfico 2 demonstra as condições de moradia em relação ao material predominante na construção das paredes externas. Das 647 famílias cadastradas, 537 (83%) moradias são de locais de alvenaria com revestimento, 55 (8,5%) de alvenaria sem revestimento, 13 (2%) de taipa com revestimento, 7 (1,1%) de taipa sem revestimento, 9 (1,4%) com outro material e 26 (4%) não foram informados.
As condições de moradia saudável estão diretamente associadas aos materiais utilizados na construção e condições sanitárias, abrangendo ainda a qualidade ambiental ao seu redor e as inter-relações. Contudo, a habitação deve possuir condições mínimas de saúde e bem-estar das pessoas12 As pessoas com menores rendimentos, sem acesso à educação e em condições de moradia precárias por falta de acesso a serviços básicos, estão mais expostas a doenças e infecções13
Gráfico 3 – Condições de moradia: disponibilidade de energia elétrica (n = 647).
Santo Antônio de Jesus, Bahia, Brasil – 2018
Fonte: e-SUS (2017).
O Gráfico 3 apresenta a disponibilidade de energia elétrica na comunidade estudada. Das 647 famílias cadastradas, 444 (38,6%) possuem energia elétrica, 17 (2,6%) não possuem energia elétrica e 186 (28,7%) não informaram. Os dados revelam que a comunidade estudada ainda necessita ser assistida com eletrificação rural.
O Censo Demográfico de 201014 revelou que ainda havia 1,3% de domicílios sem energia elétrica, com maior incidência nas áreas rurais do país (7,4%) e predominância na região Norte, onde 24,1% dos domicílios rurais não possuíam energia elétrica, seguida das áreas rurais das regiões Nordeste (7,4%) e Centro-Oeste (6,8%). Assim, pode-se inferir a carência de acesso à energia elétrica em ambientes rurais, impedindo a promoção do desenvolvimento social do país, dificultando a inclusão social e a reparação de injustiças sociais15
A eletrificação rural é fundamental para redução da pobreza, indispensável para o desenvolvimento econômico rural e é o primeiro passo para a modernização. Contudo, o estudo aponta que ainda existem famílias sem acesso à energia elétrica, sendo um recurso vital para o bem-estar social e qualidade de vida e para o desenvolvimento da sociedade pois facilita o acesso à saúde, à educação, à comunicação e ao bem-estar15
Gráfico 4 – Condições de moradia: abastecimento de água (n = 647). Santo Antônio de Jesus, Bahia, Brasil – 2018
Fonte: e-SUS (2017).
Com relação ao abastecimento de água, segundo o Gráfico 4 , das 647 famílias cadastradas, 461 (71,3%) têm abastecimento de água por meio de poço/nascente no domicílio, 145 (22,4%) possuem rede encanada, oito (1,2%) por carro pipa, uma (0,2%) por cisterna, duas (0,3%) por outras formas e trinta (4,6%) não informaram. Esses dados podem levar
as autoridades sanitárias a uma reflexão sobre a qualidade da água consumida nessa comunidade rural.
No Brasil, por volta de 90% dos esgotos domésticos da zona urbana são lançados nos rios sem nenhum tipo de tratamento, impactando de forma negativa o meio rural, visto que os rios fluem por centenas de quilômetros com a qualidade da água insalubre e inapropriada para uso. Contudo, a garantia de acesso à água em quantidade suficiente e qualidade compatível com o padrão de potabilidade estabelecido pela legislação vigente é atribuição do SUS, operacionalizada pela Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano16.
A qualidade da água tornou-se um assunto de grande valia para a saúde pública entre os séculos XIX e XX17, devendo estar de acordo com os parâmetros e padrão de qualidade definidos pela Portaria n° 2.914/2011 do Ministério da Saúde, que dispõe os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade de água para consumo humano e seu padrão de potabilidade18
Gráfico 5 – Condições de moradia: formas de consumo de água (n = 647).
Com relação à água consumida, o Gráfico 5 indica que, das 647 famílias, 427 (66%) consomem água pelo processo de filtração, 22 (3,4%) por fervura, 78 (12%) por cloração, 108 (16,7%) sem tratamento e 12 (1,9%) não informaram.
Na zona rural, o fornecimento de água se dá por fontes e poços rasos, tornando o ambiente passível de contaminação. Diante disso, existe um risco elevado de surtos de doenças
transmitidas pela água, principalmente a contaminação bacteriana, que é recorrente em poços velhos, mal vedados e próximos a áreas de fossas e terrenos ocupados por animais19
O acesso à água potável pode reduzir consideravelmente as enfermidades nas áreas rurais. A inexistência de uma vigilância para avaliar a qualidade da água nas fontes particulares pode ser um fator agravante, levando em consideração a contaminação da água no meio rural por produtos agrotóxicos usados nas lavouras e disseminados em rios, riachos e nascentes19. Existem ainda disparidades significativas no acesso à água potável entre as áreas urbanas e rurais, não só em termos do tamanho do déficit de cobertura, mas também em termos de acessibilidade das fontes disponíveis20.
Gráfico 6 – Condições de moradia: formas de esgotamento do banheiro ou sanitário (n = 647). Santo Antônio de Jesus, Bahia, Brasil – 2018
Sobre as formas de esgotamento do banheiro ou sanitário, o Gráfico 6 demonstra que 332 (51,3%) dos domicílios têm esgotamento sanitário em fossa séptica, 153 (23,6%) em fossa rudimentar, 5 (0,77%) têm rede coletora de esgoto pluvial, 7 (1%) direto para um rio, 2 (0,3%) outro tipo, 126 (19,5%) a céu aberto e 22 (3,4%) não informaram. Os dados expõem uma situação sanitária delicada, pois apresentam uma comunidade bastante vulnerável a infestações parasitárias, resultante da predominância dos domicílios que não têm acesso à rede coletora de esgoto.
Vale ressaltar que as “Diretrizes Nacionais do Saneamento Básico, contidas na Lei nº 11.445/2007 que define a Política Nacional de Saneamento Básico são de cumprimento obrigatório dos agentes públicos e privados com atuação no setor”21:113.
A relação entre saneamento e salubridade ambiental é intrínseca. O saneamento é o conjunto de ações socioeconômicas que tem por objetivo colaborar para a proteção ao meio ambiente, atuando no controle de todos os fatores do meio físico do homem, que exercem ou podem exercer efeitos nocivos sobre o seu bem-estar físico, mental e social22
A Organização Mundial da Saúde (OMS) alerta que a precariedade do saneamento básico pode ocasionar uma severa ameaça à saúde humana. A carência de saneamento provoca inúmeros impactos negativos sobre a condição de saúde da população. Além de prejudicar a saúde individual, eleva os custos públicos e privados em saúde com o tratamento de doenças23.
Gráfico 7 – Condições de moradia: destino do lixo (n = 647). Santo Antônio de Jesus, Bahia, Brasil – 2018
Com relação ao destino do lixo, no Gráfico 7 foi evidenciado que em 364 (56,2%) dos domicílios o lixo é queimado/enterrado e em 119 (18,4%) dos domicílios o lixo fica exposto a céu aberto. Apenas 126 (19,5%) das moradias têm acesso à coleta de lixo, 36 (5,6%) não informaram e 2 (0,3%) têm outros tipos.
O lixo é um problema real para o ambiente, e que ainda é tratado de maneira simplista pela sociedade, sendo preciso providenciar soluções alternativas para repensálo. No Brasil foi implementada a Lei nº 12.305/2010 que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela tem sido utilizada como base para o gerenciamento dos resíduos, visando à redução na geração, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição ambientalmente adequada dos rejeitos gerados24
O acondicionamento dado ao lixo nas zonas rurais está proporcionando ao ambiente uma significativa devastação, por ser jogado em margens de lagos e rios quando orgânico e, em sua maioria, queimado quando reciclável. A sensibilização da população rural em relação ao destino do lixo no meio ambiente é uma ação fundamental, e, para tanto, requer uma atenção especial da Equipe de Saúde da Família, especialmente dos profissionais agentes comunitários de saúde, no processo de educação em saúde25
Gráfico 8 – Condições de moradia: criação de animais no domicílio (n = 647).
Sobre a criação de animais no domicílio, o Gráfico 8 demonstra que 465 (71,9%) domicílios possuem animais, sendo que 234 (50,32%) têm gatos, 340 (73,1%) cachorros, 54 (11,6%) criam pássaros e 299 (64,3%) dos domicílios possuem outros tipos de animais. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Brasil 44,3% dos 65 milhões de domicílios possuem pelo menos um cachorro e 17,7% ao menos um gato, há no total 52,2 milhões de cães e 22,1 milhões de gatos no país2.
Os dados do estudo fornecem informações relevantes para o planejamento e a implementação de políticas de saúde de cuidados e campanhas de saúde voltadas aos animais domésticos, como a vacinação antirrábica para cães e gatos e outros animais silvestres criados em domicílios, pois esses animais não vacinados se tornam vetores de doenças, em especial a raiva: “A raiva é uma encefalite viral, de caráter zoonótico e com letalidade próxima de 100%”26:510. As equipes de saúde, em parceria com agentes comunitários de saúde, têm o papel importante na condução das campanhas e ações de saúde nas comunidades rurais,
traçando estratégias e estabelecendo as melhores formas de acesso às comunidades rurais para atender de forma universal todos os domicílios no campo.
Este estudo tem grande relevância na área da saúde pública, por evidenciar as condições sanitárias de uma comunidade rural, apontando fragilidades no acesso ao serviço de saúde, socioambiental e econômico da população estudada. Além disso, a pesquisa reforça a necessidade de sensibilização da população rural, de modo individual e coletivo, sobre os cuidados de higiene corporal e domiciliar, cuidados na colheita, armazenamento e manipulação dos alimentos, tratamento da água, destino do lixo e outras questões relacionadas à realidade sanitária em que vive.
Contudo, faz-se necessária a mobilização dos gestores para que a política de saúde aconteça de forma igualitária e universal, com enfoque nas especificidades da população rural. Ademais, é preciso atrair os profissionais de saúde, em especial os que atuam na Atenção Primária à Saúde, de modo a serem agentes de transformação no processo do cuidar das pessoas que habitam comunidades rurais, incentivando práticas em saúde e promovendo ações de educação popular sobre o tema em diversos espaços, baseadas nas metodologias ativas e na participação comunitária de forma horizontal e coletiva.
1. Concepção do projeto, análise e interpretação dos dados: João Nilton Souza Maia, Maria da Conceição Costa Rivemales, Rosa Cândida Cordeiro, Terciana Vidal Moura, Daniela Carneiro Sampaio e Lavinya Lima Cordeiro Oliveira.
2. Redação do artigo e revisão crítica relevante do conteúdo intelectual: João Nilton Souza Maia, Maria da Conceição Costa Rivemales, Rosa Cândida Cordeiro, Terciana Vidal Moura, Daniela Carneiro Sampaio e Lavinya Lima Cordeiro Oliveira.
3. Revisão e/ou aprovação final da versão a ser publicada: João Nilton Souza Maia, Maria da Conceição Costa Rivemales, Rosa Cândida Cordeiro, Terciana Vidal Moura, Daniela Carneiro Sampaio e Lavinya Lima Cordeiro Oliveira.
4. Ser responsável por todos os aspectos do trabalho na garantia da exatidão e integridade de qualquer parte da obra: João Nilton Souza Maia, Maria da Conceição Costa Rivemales, Rosa Cândida Cordeiro, Terciana Vidal Moura, Daniela Carneiro Sampaio e Lavinya Lima Cordeiro Oliveira.
1. Rodrigues JF. O rural e o urbano no Brasil: uma proposta de metodologia de classificação dos municípios. Análise Social. 2014;211:430-56.
2. Brasil. Ministério da Saúde. Política nacional de saúde integral das populações do campo e da floresta. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2013.
3. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Anuário estatístico do Brasil: 2012. Rio de Janeiro (RJ): IBGE; 2012.
4. Brasil. Ministério da Saúde. Sistema Único de Saúde (SUS): princípios e conquistas. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2000.
5. Dias PC. Moradia na Bahia: comparações e reflexões. In: Anais do 16. Encontro Nacional de Estudos Populacionais; 2008 set-out 29-03; Caxambu, Brasil. Caxambu (MG): Abep; 2008. p. 1-22.
6. Brasil. Emenda Constitucional n. 26, de 14 de fevereiro de 2000. Altera a redação do art. 6º da Constituição Federal. Brasília (DF); 2000.
7. Resende G. Secretaria Municipal de Educação de Amargosa. Revista Amargosa Centenária. Amargosa (BA): Agora Editorial Gráfica; 1991.
8. Brasil. Datasus. Sistema de Informação da Atenção Básica [Internet]. 2015 [citado em 2022 abr 28]. Disponível em: http://www2.datasus.gov.br/ SIAB/index.php?area=04
9. Brasil. Datasus. Sistema de informação de atenção básica – Cadastramento familiar – Bahia [Internet]. [citado em 2022 maio 5]. Disponível em: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?siab/cnv/SIABFba.def
10. Rückert B, Cunha DM, Modena CM. Healthcare knowledge and practices of the rural population: an integrative literature review. Interface. 2018;22(6),903-14.
11. Madeira, LM, organizadora. Avaliação de políticas públicas. Porto Alegre (RS): Ufrgs; 2014.
12. Magalhães KA, Cotta RMM, Martins TCP, Gomes AP, Siqueira BR. Habitation as a social determinant of health: perceptions and conditions of families registered under the “Bolsa Família” program. Saúde Soc. 2013;22(1):57-72.
13. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Síntese de indicadores sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira. Rio de Janeiro (RJ): IBGE; 2016.
14. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo demográfico 2010: características da população e dos domicílios: resultados do universo. Rio de Janeiro (RJ): IBGE; 2011.
15. Reis Júnior EM. Avaliação do programa “luz para todos” no estado do Amazonas sob o aspecto da qualidade da continuidade do serviço de energia elétrica. Manaus (AM). Dissertação [Mestrado em Engenharia de Recursos da Amazônia] – Universidade Federal do Amazonas; 2015.
16. Oliveira JSC, Medeiros AM, Castor LG, Carmo RF, Bevilacqua PD. Individual water supply solutions: issues for environmental health surveillance. Cad Saúde Colet. 2017; 25(2):217-24.
17. Abonizio RM. Saneamento básico no meio rural: um estudo em assentamento rural no interior do Paraná. Campo Mourão (PR). Monografia [Trabalho de Conclusão de Curso] – Universidade Tecnológica Federal do Paraná; 2017.
18. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria n. 2.914, de 12 de dezembro de 2011. Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Brasília (DF); 2011.
19. Amaral LA, Nader FA, Rossi JOD, Ferreira FLA, Barros LSS. Drinking water in rural farms as a risk factor to human health. Rev Saúde Pública. 2003;37(4):510-4.
20. Aleixo B, Rezende S, Pena JL, Zapata G, Heller L. Direito humano em perspectiva: desigualdades no acesso à água em uma comunidade rural do Nordeste brasileiro. Ambient Soc. 2016;XIX(1):63-82.
21. Marchi CMDF. Brazilian basic sanitation in the context of the transition to a green economy. Ambiente y Desarrollo. 2017;21(40):111-23.
22. Marchi CMDF. New perspectives on sanitation management: proposing a model for municipal solid waste landfill. Rev Bras Gest Urbana. 2015;7(1):91-105.
23. Siqueira MS, Rosa RS, Bordin R, Nugem RC. Hospitalizations due to diseases associated with poor sanitation in the public health care network of the metropolitan region of Porto Alegre, Rio Grande do Sul State, Brazil, 2010-2014. Epidemiol Serv Saúde. 2017;26(4):795-806.
24. Cardoso FCI, Cardoso JC. O problema do lixo e algumas perspectivas para redução de impactos. Ciênc Cult. 2016;68(4):25-9.
25. Rocha MB, Santos NP, Navarro SS. Educação Ambiental na gestão de resíduos sólidos: Concepções e práticas de estudantes do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental. Ambiente & Educação. 2012;17(1):97-122.
26. Wada MY, Rocha SM, Maia-Elkhoury ANS. Situação da raiva no Brasil, 2000 a 2009. Epidemiol Serv Saude. 2011;20(4):509-18.
Recebido: 28.5.2018. Aprovado: 23.2.2022.
Natalia Rosiely Costa Vargasa
https://orcid.org/0000-0003-0081-9895
Caroline Vasconcellos Lopesb
http://orcid.org/0000-0002-7327-3945
Márcia Kaster Portelinhac
http://orcid.org/0000-0003-3649-6557
Camila Timm Bonowd
http://orcid.org/0000-0001-9580-7234
Rita Maria Hecke
http://orcid.org/0000-0001-6317-3513
Resumo
As práticas que complementam os tratamentos convencionais estão sendo cada vez mais procuradas, em busca de uma promoção da saúde que atenda tanto as necessidades físicas quanto emocionais e espirituais. Entre as práticas de cuidado buscadas e utilizadas milenarmente destacam-se as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS). O objetivo deste estudo foi discutir as motivações dos usuários para procura das PICS em uma organização não governamental (ONG). O referencial teórico utilizado foi de Arthur Kleinman e Madeleine Leininger. Trata-se de
a Enfermeira. Doutoranda em Ciências da Saúde pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas. Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil. E-mail: nataliarvargas@gmail.com
b Enfermeira. Doutora em Ciências da Saúde pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas. Enfermeira Coordenadora do Núcleo Municipal de Educação em Saúde Coletiva (Numesc). Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil. E-mail: carolinevaslopes@gmail.com
c Fisioterapeuta. Doutora em Ciências da Saúde pelo Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Enfermagem (FEn) da Universidade Federal de Pelotas. Técnica Administrativa da Universidade Federal de Pelotas. Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil. E-mail: portelinhamarcia@gmail.com
d Enfermeira. Doutoranda em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas. Bolsista de Doutorado Capes na Universidade Federal de Pelotas. Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil. E-mail: camilatbonow@gmail.com
e Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Professora Associada da FEn da Universidade Federal de Pelotas. Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil. E-mail: rmheckpillon@yahoo.com.br
Endereço para correspondência: Rua Lobo da Costa, n. 1764, sala 203, Centro. Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil. E-mail:carolinevaslopes@gmail.com
uma pesquisa qualitativa e exploratória, que abordou 12 usuários de práticas integrativas e complementares disponibilizadas na referida organização. Realizaram-se entrevista semiestruturada no domicílio dos participantes no período de maio a agosto de 2014 e observação participante no local de estudo. A análise dos dados foi realizada de acordo com a proposta operativa de Minayo. A maioria dos participantes recorreu à ONG após algum problema de saúde. Além das PICS, outros fatores foram mencionados como importantes no cuidado realizado nesse ambiente, tais como acolhimento, criação de vínculos e espiritualidade, evidenciando o relevante significado sociocultural desse local. Destaca-se que a busca por práticas integrativas e complementares e por esse espaço de cuidados surge a partir da necessidade de um cuidado biopsicossocial, cultural e espiritual.
Palavras-chave: Terapias complementares. Cuidados integrais de saúde. Organização não governamental. Enfermagem.
Abstract
Practices that complement conventional treatments are being increasingly sought out, in pursuit of a health care that addresses both physical, emotional, and spiritual needs. Among the care practices sought and used millennially, the complementary comprehensive health care practices (PICS) stand out. Hence, this qualitative and exploratory study discusses the motivations of users when seeking complementary comprehensive practices in a non-governmental organization (NGO). The works of Arthur Kleinman and Madeleine Leininger make up the theoretical framework. Data was collected by means of semi-structured interviews conducted with 12 users of the complementary comprehensive practices available in the organization, at the participants’ home, from May to August 2014, and participant observation at the study site. Data analysis was performed according to Minayo’s operational proposal. Most participants turned to the NGO after some health issue. Besides the complementary comprehensive practices, the respondents mentioned user embracement, bonding, and spirituality as other important factors in the care given, thus highlighting the great socio-cultural meaning of this space. Importantly, the search for complementary comprehensive practices and for this health care space stems from the need for biopsychosocial, cultural, and spiritual care.
Keywords: Complementary therapies. Comprehensive health care. Non-governmental organization. Nursing.
NO GUBERNAMENTAL: EN BUSCA DE UN CUIDADO INTEGRAL
Las prácticas que complementan los tratamientos convencionales se están buscando cada vez más para tener una promoción de la salud que atienda tanto las necesidades físicas como emocionales y espirituales. Entre las prácticas de cuidado buscadas y utilizadas milenariamente se destacan las prácticas integradoras y complementarias (Pic). Este artículo pretende discutir las motivaciones de los usuarios en cuanto a la búsqueda de las Pic en una organización no gubernamental (ONG). El referencial teórico utilizado fue de Arthur Kleinman y Madeleine Leininger. Este estudio resulta de una investigación cualitativa, exploratoria que abordó a 12 usuarios que utilizaban las prácticas integradoras y complementarias disponibles en esta organización. Se realizaron una entrevista semiestructurada en el domicilio de los participantes en el período de mayo a agosto de 2014 y una observación participante en el local de estudio. El análisis de los datos fue realizado de acuerdo con la propuesta operativa de Minayo. La mayoría de los participantes recurrieron a la ONG después de algún problema de salud. Y se evidenció que, además de las Pic, otros factores fueron mencionados como importantes en el cuidado realizado en este ambiente, tales como la acogida y la creación de vínculos y espiritualidad, lo que muestra el relevante significado sociocultural de este espacio. Se destaca que la búsqueda por las prácticas integradoras y complementarias y por este espacio de cuidados surge a partir de la necesidad de un cuidado biopsicosocial, cultural y espiritual. Palabras clave: Terapias complementarias. Cuidados integrales de salud. Organización no gubernamental. Enfermería.
O cuidado com a saúde pode ocorrer de diversas formas e ser apresentado de maneira diversificada entre os grupos que oferecem e praticam o cuidado. Entretanto, esse cuidado tende a ser benéfico se o profissional de saúde, ou cuidador informal, tiver conhecimento dos valores culturais dos indivíduos assistidos, e direcionar sua prática a partir disso1
Os seres humanos vêm buscando práticas que complementam tratamentos convencionais, sendo assim uma forma de promover assistência à saúde do usuário, atentando para questões físicas, emocionais e espirituais2.
Entre as práticas de cuidado buscadas e utilizadas milenarmente, destacam-se as práticas integrativas e complementares em saúde (PICS), como a acupuntura e as plantas
medicinais. Essas práticas contemplam sistemas de saúde complexos e recursos terapêuticos, que envolvem diversas abordagens buscando estímulo aos mecanismos de prevenção e reabilitação da saúde por meio de tecnologias eficazes e seguras3. Além disso, estimulam a escuta acolhedora, o vínculo terapêutico e a integração do ser humano, meio ambiente e sociedade. Ampliando a visão do processo saúde-doença e a promoção global do cuidado, incluindo o autocuidado3
As PICS fortalecem o argumento de que muitas delas são intervenções para promoção de saúde, com baixo custo, simplicidade no acesso, possibilitando alternativas de tratamentos além da alopatia, incluindo até mesmo o saber do usuário4.
Nas sociedades ocidentais, o aumento do uso de sistemas terapêuticos comumente denominados “alternativos e/ou complementares” almejam dar suporte e atenção à saúde, buscando preencher lacunas observadas nas formas de cuidar de pessoas5. Diante desse e de outros fatores, foi implementado em 2006 a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde (SUS), estimulando a inclusão dessas práticas nos serviços de saúde3.
As lacunas na formação dos profissionais de saúde são uma realidade, pois por vezes no Brasil as instituições de ensino dão pouca importância às PICS, desconsiderando a possibilidade de escolha pelos usuários que precisam de assistência de saúde integral e são seres ativos no processo de cuidado6
Apesar da existência de políticas relacionadas às PICS, tais como a PNPIC, muitos municípios ainda não disponibilizam essas práticas nos atendimentos via SUS, como é o caso da cidade de Pelotas (RS), local onde foi realizado este estudo.
Compreende-se que, apesar de o modelo biomédico ser o sistema médico estatal que oferece serviços de saúde via SUS, quando a população necessita de cuidados de saúde, ela também recorre a outros sistemas7. Muitas vezes, utiliza-se a medicina popular, sistemas médicoreligiosos, ou ainda buscam os diversos sistemas existentes ao longo do processo de doença e cura7
A população busca atendimento nos mais variados locais, e não apenas nos serviços oficiais de saúde, transitando por diversos sistemas de cuidado à saúde a fim de utilizar as PICS no cuidado.
Há três sistemas de cuidado à saúde pelos quais a população transita concomitantemente: o sistema profissional – representado pelos profissionais da saúde reconhecidos e legitimados; o popular – no qual estão inseridos a família, amigos, grupos; e o sistema de cuidados folk – no qual estão incluídas pessoas que são referências em uma determinada comunidade, como conhecedores de plantas medicinais, curandeiros, benzedeiras, entre outros8
Nesses sistemas de cuidados emergem práticas de cuidados com objetivo de proporcionar uma resposta mais alentadora ao ser humano, e observam-se diversas destas sendo desenvolvidas no sistema popular ou folk, por cuidadores não reconhecidos pelo sistema de cuidados profissional9
No contexto de apoio social por meio de organizações não governamentais (ONG) e grupos, há serviços que oferecem práticas não alopáticas, auxiliando os indivíduos a enfrentar as adversidades que surgem no decorrer da vida10. Como é o caso da ONG em que foi realizado o presente estudo, que disponibiliza para a população cuidado utilizando as PICS, e que se tornou referência no município, sendo procurada por diversas pessoas.
Desse modo, torna-se essencial a compreensão dos sistemas de saúde nos quais os usuários transitam e buscam atendimento7, ressaltando a importância de conhecer e direcionar as práticas em saúde de acordo com os padrões, crenças e valores culturais dos indivíduos, para que se execute o cuidado culturalmente congruente e benéfico1
Do mesmo modo, é essencial compreender as PICS a partir do contexto vivenciado pelas pessoas que utilizam essas práticas no cuidado à saúde, já que elas consistem em uma das tantas formas de buscar tratamentos, seja diante de algum sofrimento ou com intuito de manter a saúde e melhorar a qualidade de vida. O objetivo deste estudo é identificar os motivos dos usuários recorrerem a esse cuidado com as práticas integrativas e complementares oferecidas na ONG.
Diante disso, a questão norteadora deste artigo é: quais as motivações dos usuários ao procurar as práticas integrativas e complementares no cuidado à saúde em uma ONG?
Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa e exploratória11,12. A pesquisa qualitativa trabalha com um universo de significados a respeito de como os indivíduos observam suas experiências diante do mundo social e a maneira como esses seres compreendem o mundo11. A pesquisa exploratória permite ao pesquisador aumentar sua experiência, buscando explorar a temática escolhida12. Este estudo foi realizado no município de Pelotas (RS), em uma ONG e nos domicílios dos participantes da pesquisa.
A ONG em que foi realizado o trabalho existe desde 1998 e está vinculada à Pastoral Ecumênica de Saúde Popular da Igreja Católica. Ela integra as 12 comunidades de uma rede solidária idealizada e coordenada pela Religiosa-folkf. A ação colaborativa e o
f Religiosa-folk: religiosa da Igreja Católica Apostólica Romana. Referência na comunidade. Desenvolve há mais de cinquenta anos atividades sociais de cuidado à saúde de forma gratuita para população, possui amplo conhecimento sobre plantas medicinais, adquirido no convívio familiar, especialmente com sua mãe, bem como pelo contato com indígenas em missões realizadas. Compreendida como figura folk neste trabalho.
trabalho voluntário de aproximadamente cinquenta trabalhadores na ONG estudada, além do reconhecimento desse local pela população, estimulam o funcionamento do local paralelo ao sistema de saúde oficial.
A ONG desenvolve suas atividades em uma casa de alvenaria, sendo um ambiente de atendimento ao público, que tem por objetivo assistir de forma gratuita, especialmente, pessoas mais vulneráveis economicamente. Nesse espaço, são disponibilizados para a comunidade cuidado utilizando-se de diversas PICS, tais como: plantas medicinais, homeopatia popular, aplicação de reiki, massoterapia, acupuntura e jin shin jyutsu e atendimentos psicossociais.
Os 12 participantes da pesquisa utilizavam alguma das PICS disponibilizadas na ONG pelo menos pela segunda vez. As entrevistas foram realizadas no período de maio a agosto de 2014. Os participantes foram identificados neste estudo por nomes de plantas (escolhidos por eles mesmos), seguidos da idade.
A pesquisadora esteve presente neste serviço (ONG) no período de fevereiro a dezembro de 2014, comparecendo uma vez por semana, sendo que nos meses de coleta compareceu duas vezes por semana ao local (às terças e sextas – dias de funcionamento do serviço), para facilitar a escolha dos participantes.
Além disso, conforme combinado com a coordenação da ONG, foi realizado nesse período trabalho voluntário no local, no qual foi possível acompanhar o funcionamento do serviço, bem como criar vínculos tanto com os voluntários da ONG quanto com os usuários, realizando uma observação participante e registros de nota de campo, após cada dia de trabalho, e ao final compuseram o diário de campo.
A partir da observação e com o auxílio de alguns voluntários foi possível selecionar e convidar os participantes da pesquisa, procurando escolher indivíduos de diversas PICS para que fossem contempladas todas (plantas medicinais, homeopatia popular, reiki, jin shin jyutsu, acupuntura, massoterapia). Os critérios de inclusão foram: utilizar as PICS pelo menos pela segunda vez; ser maior de 18 anos; e residir em local de fácil acesso.
Após o convite realizado na ONG para participar da pesquisa, os participantes disponibilizaram o número de telefone para a pesquisadora, e posteriormente foi marcado o encontro no domicílio do participante. Apenas um usuário foi entrevistado na ONG, por solicitação dele, pois devido às chuvas o transporte ficava difícil até seu domicílio.
Foram realizadas entrevistas semiestruturadas utilizando-se de gravação de áudio para registro, além de observação participante na ONG, a qual permitiu maior conhecimento da participação deles, e principalmente aproximação com a ONG, conhecendo-a a partir de seu interior13. A pesquisa preservou as normas ético-legais vigentes da Resolução do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen)
564/2017 Cap.III, Art. 95 ao 102, que trata das responsabilidades e deveres e os Art. 94, 96 e 98, que se referem às proibições. Respeitando os princípios de honestidade, fidedignidade e dos direitos autorais no processo da pesquisa, principalmente na divulgação de resultados14
A coordenadora da ONG autorizou a realização da pesquisa, assinando a carta de anuência conforme a resolução 466/12 preconiza15. O projeto recebeu aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa sob o nº 648.140. Os participantes da pesquisa assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido.
Os dados foram analisados conforme sugere a Proposta Operativa de Minayo16 Esta análise possui três momentos: o primeiro consiste na fase exploratória da investigação; o segundo, na coleta de dados propriamente dita; e o terceiro momento é interpretativo, se iniciando com uma pergunta e terminando com uma resposta ou produto, que, por sua vez, dá origem a novas interpretações16
Entre os 12 participantes, oito eram do sexo feminino e quatro do sexo masculino. Com relação à religião, cinco se declararam católicos, uma disse acreditar também no espiritismo. Quatro são espíritas. Um relatou ser evangélico luterano. Duas participantes declararam não ter religião, uma delas relata que era espírita e a outra católica, entretanto, hoje em dia não praticam nenhuma religião.
A idade dos participantes variou de 40 a 70 anos. Com relação à escolaridade, um é pós-graduado, dois são graduados, cinco completaram o ensino médio, um completou o ensino fundamental completo e três possuem ensino fundamental incompleto. O tempo de vínculo com a ONG oscilou de três semanas a seis anos.
A partir dos dados coletados nas entrevistas e da observação participante, foi possível conhecer as motivações que os levaram até a ONG para usar as PICS. Após a análise dos dados, eles foram separados em duas categorias, discutidas e apresentadas a seguir.
PROCURA PELO SISTEMA DE CUIDADO FOLK: A ESPERANÇA DIANTE DA INSATISFAÇÃO
Na trajetória dos usuários da ONG, foi observado que o sistema de cuidados profissional já foi ou é experienciado em algum momento. Esse modelo foi mencionado pela maioria dos participantes como obrigatório ao enfrentar uma doença considerada grave, a exemplo do câncer, doenças cardíacas, entre outras. Porém, apesar de considerado importante, alguns participantes mostraram-se insatisfeitos com os atendimentos prestados:
“Em nenhum momento o [médico] verificou a minha pressão […] e eu estava quase dando um AVC, eu não enxergava, eu não conseguia caminhar […] [silêncio] o meu organismo não deixava eu comer, eu não tinha fome, eu não tinha nada, então o que eles procuraram em mim? Um tumor, só podia estar com um tumor [risada] […] é uma loucura o que os doutores fazem com a gente!” (Violeta, 58 anos).
“Eu fiz uma cirurgia de varizes, mas a enfermeira da noite […] bah […] era terrível, sabe? […] a gente vê o atendimento, a grosseria dela assim, sabe? […] eu sempre digo, tu tem que ter muito amor a essa profissão, né? […] fazer por amor […].” (Tulipa, 49 anos).
“Os médicos deixam sempre muito a desejar, né? Tu não pode nem perguntar nada pra eles […] Eu queria que ele [médico] me explicasse realmente o que que era a proteinúria, se é uma doença grave, se não é […] disse que não é a área dele na verdade, mas ele poderia me esclarecer […].” (Orquídea, 48 anos).
Fica explícito nessas falas o descontentamento dos usuários com o sistema de cuidados profissional, representado pelo modelo biomédico, o qual observa o ser humano fragmentado. Ele não dá conta de atender às necessidades dos indivíduos que buscam um cuidado que ultrapasse a lógica mecanicista e reducionista.
“Geralmente a gente vai aos médicos, eles só mandam pros especialistas. Hoje em dia é uma luta, a gente vai ninguém sabe mais nada, um manda pro outro e vai mandando um pro outro e tu só vai gastando, gastando […] Cada um é da sua área, cada um quer exame diferente, é isso que desespera a gente também.”
(Rosa vermelha, 70 anos).
“Eu acho assim, que o médico, tu chega lá, ele tá ali do outro lado [outro lado da mesa, apontando] bom dia, boa tarde, às vezes nem se levanta […] o que tu tá sentindo? (Tulipa, 49 anos).
Algumas vezes os usuários que procuram a ONG já foram diagnosticados no sistema de cuidados profissional, ou já buscaram esse setor, porém o problema não foi solucionado de acordo com as expectativas. Muitos participantes relataram o estímulo inicial de procura por este local e pelas PICS associados à dor física e fatores biológicos:
“Eu andava com muita dor na coluna […] e eu já estava começando a ficar doente, já estava ficando cansada, eu acho até que eu estava assim, entrando numa depressão… eu não estava comendo, eu comecei a perder peso […] eu já comecei a ficar meio, mais pra baixo porque eu tive que parar de fazer as coisas, não conseguia, ficava cansada, isso começou a me deixar meio para baixo […] [pausa na fala].” (Rosa Vermelha, 70 anos).
“A necessidade de tratamento físico, coluna, artrose, reumatismo […] fundamentalmente, a coluna, porque eu acho que o restante é consequência dela […] ansiedade também, vai juntando, juntando, juntando […].” (Bálsamo, 60 anos).
“Uma solução para dor […] porque eu não conseguia me agachar, eu não conseguia tomar banho sozinho, me lavar sozinho […] hoje eu faço sozinho, e eu não conseguia.” (Coqueiro, 58 anos).
“A dor nos pés […] não podia sentar o calcanhar no chão […].” (Rosa, 55 anos).
É importante ressaltar que, à medida que os usuários vivenciavam algum sofrimento físico, provavelmente procuraram eliminá-lo, entretanto, apesar de o fator biológico ser importante, as motivações para buscar um cuidado vão além disso, a fim de suprir diferentes necessidades e dimensões dos seres humanos.
ALÉM DO ALÍVIO FÍSICO: A BUSCA PELO AUTOCONHECIMENTO, ESPIRITUALIDADE E CONSTRUÇÃO DE VÍNCULOS
Ao serem questionados sobre o que os estimulou a procurar a ONG e, respectivamente, as PICS, apenas duas participantes responderam fatores não relacionados ao sofrimento:
“Não conhecia [ONG], não tinha nem ideia, nem imaginava […] Eu fui assim, até por curiosidade do reiki, que eu queria ir. Eu não estava sentindo nada.” (Girassol, 56 anos).
“Na época que eu trabalhava eu sempre dizia: o dia que eu me aposentar, eu vou fazer voluntariado, porque eu acho que tem tanta gente que está sempre precisando […] e também vou ser honesta […] pra mim não ficar com o tempo totalmente ocioso […] na realidade, vamos ser honesta essas coisas místicas assim de plantas e de coisa […] eu sempre fui muito curiosa, sabe?” (Tulipa, 49 anos).
A participante Girassol procurou o local para se aproximar da prática reiki e não por problema de saúde. No mesmo sentido, Tulipa viu na ONG a possibilidade de um trabalho voluntário aliado ao seu desejo de conhecer mais sobre as plantas e outras PICS.
Alguns participantes responderam que PICS foram estimuladas por sofrimentos psicológicos, sociais, espirituais que abalaram suas vidas:
“Não era só pressão alta […] porque aí a pressão foi pro lugar, e seguiu aquela coisa, tu está mal, sabe? Quando tu te sente mal, tu está fechada, está difícil […] aí, eu não sei, como é que eu vou te dizer: faltava alguma coisa […] faltava alguma coisa, que não era só médico, faltava alguma coisa […].” (Violeta, 58 anos).
“Em função, tá, de saúde, corpo, vamos dizer assim, o lado […] espiritual também, uma coisa afeta a outra, né? Se eu não estiver com a mente legal, eu não vou tá bem com o meu físico, né? […] Abalo meu psicológico, isso aí foi assim […].” (Alecrim, 52 anos).
“Eu estava passando por uma fase bem difícil, né? ainda estou […] depressão […] por situações da vida […].” (Hortênsia, 40 anos).
Foi observado um número significativo de pessoas que buscaram práticas de cuidado PICS após o diagnóstico de câncer:
“É, eu fazia os meus exames periódicos, todo ano, aí quando eu descobri, que iniciei o tratamento. Na verdade, antes de começar o tratamento eu já vim na Religiosa-folk, eu comecei o tratamento do câncer pela Religiosa-folk antes, porque tem muita demora, né, pelo SUS, até consegui chegar na doutora, começar a tomar as injeções mensais, eu levei 5 meses […] eu sabia que tinha câncer e não tinha tratamento, quer dizer, o tratamento que eu tinha era o da Religiosa-folk […].” (Tansagem, 62 anos).
“Foi essa doença […] Na verdade, antes do câncer eu não conhecia essa medicina complementar, talvez eu até pudesse ter evitado esse câncer, né?” (Orquídea, 48 anos).
Ao chegar à ONG, Dália, além de encontrar a planta medicinal que procurava, recebeu a sugestão de outras PICS:
“Sim, fui primeiro pegar a fichinha da Religiosa-folk e perguntar sobre a batata […] ela disse o reiki é bom […] aí eu fui no reiki aquele dia.” (Dália, 44 anos).
A participante utiliza as PICS disponibilizadas na ONG como complemento ao tratamento profissional que está realizando, porém, ela procura não apenas amenizar desconfortos físicos:
“Para mim é uma cura espiritual. Que tu também tens que estar de bem contigo mesmo, não adianta tu odiar o mundo inteiro e ir ali fazer o reiki, não vai resolver nada, tu vais sair dali pior ainda que tu chegaste.” (Dália, 44 anos).
As PICS auxiliam no equilíbrio emocional, na espiritualidade, também importantes como práticas de cuidado, já que possibilitam a percepção positiva de fatores que influenciam na recuperação e qualidade de vida. Essa participante ainda relatou que a doença apesar de impactante surge como modificadora de atitudes, percepções e de seu modo de vida:
“Eu sempre digo que na verdade eu era muito pacata, eu estava praticamente morta. Na verdade, só encerrada aqui, vizinho nenhum conversava. A doença mudou? Hoje eu saio com batom, antes eu não usava batom. Porque eu digo assim: é que cada coisa vem para ti mudar alguma coisa.” (Dália, 44 anos).
Essa busca pelo sentido da vida é relatada por vários participantes, além disso, em algumas falas torna-se evidente que esses usuários estão aos poucos indo ao encontro da espiritualidade ao utilizar as PICS, enxergando o que antes não era perceptível, uma descoberta relacionada à própria vida e a um novo caminho a ser seguido:
“Acredito que significa pra mim, assim, uma parte, um momento que eu me encontro, eu acho que, que eu saio de mim […] vou longe assim, como vou te dizer assim: eu recebo energias boas, sabe? É retirado alguma coisa que está me incomodando, espiritualmente.” (Alecrim, 52 anos).
“A palavra certa é isso […] é uma paz interior, tu sai dali com os teus rumos todos acertados.” (Violeta, 58 anos).
Durante conversas com essa participante, foi possível perceber o quanto sua vida nos últimos nove anos esteve em torno da sua filha, que teve diagnóstico de leucemia aos três anos. Porém, quando a filha não necessitou de tantos cuidados, ela viu-se sem estímulo, depressiva. Relata ainda que apesar de buscar o sistema profissional e a ONG (folk), ainda não conseguiu sentir benefícios em relação às suas expectativas:
“Acho que tem coisas que realmente às vezes são meio graves assim, e que demoram um pouco […] a gente tem também que se ajudar, e eu estou numa fase assim, que está difícil pra me levanta […] é como eu te disse, ali na Religiosa-folk tu vai mais pela esperança, pela fé, pelo espiritual.” (Hortênsia, 40 anos).
A participante no momento da entrevista estava utilizando recentemente o serviço da ONG (aproximadamente um mês) e relatou que acredita que a continuidade e frequência da utilização da PICS influenciam nos possíveis resultados. Nos meses posteriores à entrevista por meio da observação participante foi possível perceber que Hortênsia mostrou-se presente na ONG, continuando a utilização das PICS com objetivo de alcançar suas expectativas.
PROCURA PELO SISTEMA DE CUIDADO FOLK: A ESPERANÇA DIANTE DA INSATISFAÇÃO E DOS DESCONFORTOS FÍSICOS
Entende-se que os usuários percorrem os sistemas de cuidados em busca da integralidade no cuidado, na expectativa de encontrar práticas e terapias que supram as suas expectativas, compatível com as limitações que surgem em fases da vida.
O modo como as doenças são vivenciadas é moldado culturalmente, e isso influencia em como percebe-se a doença, bem como busca-se superá-la8. Compreende-se que o contexto sociocultural está diretamente relacionado com a forma como sentimos as doenças, demonstramos sintomas e a maneira que utilizamos práticas de cuidado à nossa disposição.
Os participantes mencionaram transitar entre os sistemas de cuidado que na sociedade contemporânea podem ser tipificados como: profissional, popular e folk8. A ONG, cenário deste estudo, integra o sistema de cuidados folk, especialmente pela presença de uma líder ímpar de cuidado, a Religiosa-folk, referência na comunidade principalmente por possuir amplo conhecimento sobre plantas medicinais.
Além disso, as atitudes dos profissionais durante o atendimento causam por vezes insegurança e influenciam na escolha dos sistemas de cuidados e das PICS que fazem mais
sentido para o usuário. No discurso de Orquídea (48 anos) chama a atenção a fragmentação do cuidado repassada aos usuários, entende-se na fala desta que o resultado num exame não é da área do profissional. Dessa forma, reforça-se que, quando se observa um cuidado de partes isoladas do organismo, mesmo compreendendo a incoerência dessa atitude por profissionais, acaba-se repassando para sociedade essa ideia.
Por vezes, o usuário que se queixa de desconfortos diversos, diferentes dores físicas ou sofrimentos é taxado como “poliqueixoso” pelos profissionais da saúde.
Outros fatores destacaram-se durante as entrevistas ao ser mencionado o sistema profissional, tais como: ausência do contato físico, falta de diálogo, a persistente investigação focada em evidências com ênfase na utilização de tecnologias. Em contraponto, aspectos importantes do cuidado vivenciados pelo ser humano como valorização de sinais e sintomas, acolhimento e o vínculo foram apontados como falhos.
Esses relatos surgem como um alerta, para que se repense as práticas dos profissionais da saúde. Alguns trabalhadores executam o trabalho em um modelo assistencial desumanizado, não condizente com as necessidades da pessoa em sofrimento, sem priorizar o bem-estar e o cuidado integral.
Ao longo da evolução técnico-científica, se intensificou a fragmentação da assistência à saúde, reduzindo o ser humano a órgãos e partes separadas, sendo tratado como uma máquina, consolidando o modelo biomédico e, como parte dele, a medicalização. Além disso, como decorrência do aprofundamento no conhecimento dos pedaços do organismo, aparecem as especializações, o que desintegra ainda mais o cuidado, observando os seres humanos somente por partes desarticuladas 17 .
Essa incompreensão da integralidade, em conjunto a outros fatores, faz com que as pessoas recorram ao sistema de cuidado folk , como o acompanhado nesta pesquisa. Constatou-se que nem todos os participantes procuraram o sistema profissional anteriormente à ONG para alívio de algum desconforto apresentado, entretanto, percebese a constante transição desses usuários por entre esses sistemas concomitantemente, tal como mencionado por Kleinman 8. Diante dessas falas, ressalta-se o potencial das PICS também no que se refere à promoção da saúde, com ênfase na saúde e no cuidado em sua integralidade, diferenciando-se do tratamento fragmentado e focado na doença.
A influência cultural desse grupo social faz com que recorram a essas PICS oferecidas pela ONG ao somatizarem algum desconforto ou doença. Esses sujeitos buscam por um sistema de cuidado que os acolha nesses diferentes aspectos.
As queixas de origem emocional, os sentimentos e a singularidade de cada indivíduo muitas vezes não são considerados pelos profissionais de saúde, visto que nem sempre há um diagnóstico clínico. Em alguns casos, os usuários sofrem e sentem-se doentes, no entanto, são considerados saudáveis, pois os resultados dos exames estão dentro da normalidade, o que influencia na continuidade ou não do tratamento 10 Compreende-se que os seres humanos não podem ser reduzidos a fatores físicos ou biológicos, entretanto, entende-se que esse fator está intimamente relacionado à procura de cuidados, pois, na presença de dor, os indivíduos buscam tratamentos que amenizem ou resolvam o desconforto. Além das PICS, alguns usuários utilizam medicações prescritas dentro do sistema de cuidados profissional, utilizando as PICS associadas para melhor resultado.
Destaca-se a necessidade de o ser humano ser observado como um todo, e entende-se que muitas vezes os usuários recorrem a um sistema de cuidados com o objetivo principal de alívio do sintoma físico. Neste estudo, evidencia-se que a dor física por vezes resultou em limitações de atividades cotidianas, e esta gerou uma sensação de dependência ao ter que deixar de executar simples tarefas do dia a dia devido à presença de dor ou desconfortos. Desse modo, os problemas físicos acarretaram ou estiveram e foram mencionados pelos participantes constantemente atrelados a outros fatores.
Além disso, esteve presente no discurso de alguns participantes a insatisfação com a intensa medicalização durante o tratamento no sistema de cuidados profissional, sendo mencionada frequentemente a busca por PICS no intuito de auxiliar nesse sentido, visto que compreendem as medicações em sua maioria como efeitos colaterais deletérios.
ALÉM DO ALÍVIO FÍSICO: A BUSCA PELO AUTOCONHECIMENTO, ESPIRITUALIDADE E CONSTRUÇÃO DE VÍNCULOS
Destaca-se nessas falas a vontade de saber mais sobre PICS. Além disso, há um estímulo inicial permeado por certa curiosidade, identificada como positiva na medida em que contribui para a descoberta de novas práticas de cuidado, a fim de encontrar uma que atenda as necessidades vivenciadas em cada momento, mesmo que não haja presença de sofrimento. Independentemente de os seres humanos se sentirem ou não doentes, eles necessitam de cuidados, visto que o cuidado torna as pessoas mais “humanas” 18. Ainda que não exista cura sem cuidado, há possibilidade de cuidar sem obter cura, fato que reforça o cuidado como central na busca pelo bem-estar 18 .
As PICS poderão ser procuradas no sentido de proporcionar um maior bem-estar e qualidade de vida, ou até mesmo com intuito de criação de vínculos e de aproximação com um espaço de cuidados que perceba as diferentes dimensões dos seres humanos.
Esse vínculo é definido como um processo que relaciona afeto e ética entre cuidador e usuário, numa convivência de ajuda e respeito mútuos19
Entende-se o voluntariado mencionado por Tulipa (49 anos) também como uma prática de cuidado na vida dela, quando procura esse trabalho por uma necessidade pessoal devido ao fato de querer estar inserida em alguma atividade, sem ficar com tempo ocioso. Compreende-se que as pessoas buscam cuidado ou até mesmo voluntariado a partir de um ambiente que partilha dos mesmos ideais, condizentes com a cultura da pessoa.
Kleinman ressalta que para discutir o cuidado é essencial aproximá-lo da cultura, reforçando a ideia de que os sistemas de cuidado à saúde são cultural e socialmente construídos, afirmando que todas as atividades de cuidado em saúde são respostas sociais, preparadas frente às doenças 8
Diante das falas expostas, reforça-se a necessidade de o ser humano ser observado em sua integralidade. Os fatores biológicos, psicológicos, sociais, culturais e espirituais são indissociáveis. O ser humano é complexo, e traz consigo todos esses aspectos atrelados. Quando um problema físico (biológico) surge acaba por refletir em outros elementos e vice-versa.
O ser humano, portanto, entendido como uma unidade complexa, deverá ser cuidado como tal, sem ser dividido em partes. Guiando-se sob a perspectiva do paradigma da complexidade, sendo a visão sistêmica essencial para compreender o ser humano e sua saúde20. Dessa forma, constantemente transita-se pelos sistemas de cuidados, procurando obter uma resposta às necessidades apresentadas em cada momento, além disso, os usuários realizam constantemente a articulação entre os diferentes sistemas propostos por Kleinman8
Ao agregar-se o cuidado formal e informal reduzem-se as lacunas observadas entre esses sistemas de cuidado, viabilizando práticas de cuidado multiculturais e significativas na saúde, permitindo um olhar integral à saúde, que considere o cuidado cultural, destacando que, dessa forma, poderão surgir novos conhecimentos que irão contribuir para transformações das práticas em saúde21
É importante destacar o papel da enfermagem nesse contexto, ao compreender a cultura e as motivações dos usuários para recorrerem a determinados sistemas, conseguindo aproximar-se dos pacientes, respeitando sua cultura, contribuindo na articulação desses sistemas de cuidados, indo ao encontro do cuidado integral.
Na realidade, compreende-se que a articulação entre sistemas de cuidados é realizada pelos usuários quando eles se apropriam de diferentes cuidados provenientes de variados sistemas, não limitando-se a um deles. Para atender a necessidade do momento, eles criam seu próprio cuidado a partir das práticas que farão mais sentido no momento.
Há um aumento na busca pelas PICS por diversos indivíduos, e notadamente por pessoas diagnosticadas com câncer, além disso, há um crescimento no número de produções científicas sobre esse assunto22.
Tansagem (62 anos) há três anos teve câncer de próstata, foi diagnosticado no sistema de cuidado profissional, entretanto, a prática de cuidado que deveria ser realizada em seguida não ocorreu. Ou seja, ocorreu o diagnóstico, e o tratamento que deveria ser realizado demorou cinco meses para iniciar. Isso ocasionou, como expressado durante a entrevista, ansiedade e certo desespero, ao encontrar-se diante de uma doença considerada grave sem ter o tratamento imediato.
Esse participante, durante o período de espera, utilizou as PICS disponibilizadas na ONG (plantas medicinais e homeopatia popular), e durante a entrevista reforçou a importância, a segurança e a força que o sistema de cuidados folk e as PICS lhe proporcionaram. Apesar de compreender que se tratava de espaços de cuidados diferentes, e que também era necessária a utilização do sistema de cuidados profissional, esse participante sentiu-se um pouco mais tranquilo ao ver-se acolhido e cuidado na ONG, utilizando as PICS e aguardando o tratamento no sistema de cuidados profissional.
Diante dessa situação nos deparamos com um problema grave, o sistema de cuidados profissional, apesar de realizar o diagnóstico a partir de exames rotineiros, mostra-se ineficiente na agilidade de resposta e tratamento adequado. Esse fato causa insegurança, uma vez que o ser humano se sente desamparado, incapaz e vulnerável a essa situação, procurando diversos meios que possam amenizar a angústia sentida diante do contexto.
Atualmente, há uma lei, publicada em 22 de novembro de 2012, que visa a agilidade no início do tratamento de câncer. O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS) no prazo de até sessenta dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica 23. Apesar disso, percebem-se ainda dificuldades no diagnóstico, que algumas vezes demora a ser realizado, assim como no tratamento imediato.
Após iniciar o tratamento radioterápico, Tansagem (62 anos) seguiu a utilização de PICS concomitantemente. O local de estudo preencheu uma lacuna durante o período de espera, reforçando a importância das PICS, e de espaços de cuidados como a ONG, que integram a rede de cuidados buscada pelos indivíduos, com objetivo de proporcionar o bem-estar.
Atualmente, esse participante realiza no sistema de cuidados profissional acompanhamento médico. Além disso, continua indo à ONG e utilizando as PICS para amenizar diversos desconfortos, tais como a atual dor na coluna, pois as práticas de cuidados realizadas na ONG têm importante significado em sua vida, além da credibilidade devido às experiências anteriores. Nesse espaço de cuidado, o usuário sente-se valorizado de forma integrada, o que contribui para sua recuperação.
Orquídea (48 anos) frequenta a ONG há seis anos, após realizar cirurgia devido ao câncer de tireoide. Ela começou a frequentar a ONG por indicação de um primo, e foi a partir disso que conheceu as PICS. Continua utilizando-as e tornou-se voluntária no local. Evidencia-se a partir de sua fala a importância da ONG e das PICS em sua vida, ao mencionar, inclusive, que acredita que poderia ter evitado o câncer se já tivesse conhecimento sobre as PICS anteriormente.
A busca dos usuários pelas PICS é um movimento que vai além da insatisfação com técnicas convencionais, sendo uma procura por outra lógica de se relacionar com o corpo, com a sua doença e até mesmo com o serviço de saúde frequentado22
É em busca dessa outra lógica de percepção do corpo, da doença e de relação com o serviço procurado que os usuários transitam pelos sistemas de cuidado em busca do que irá aproximar-se mais de suas necessidades e expectativas. Esse é o caso de muitos usuários que procuram a ONG, como Dália (44 anos), que atualmente faz tratamento quimioterápico de câncer de mama. Essa usuária não se limitou ao sistema profissional de cuidados e foi até a ONG em busca da batata-cará (Dioscorea bulbifera), uma planta medicinal com propriedade antitumoral24, que uma amiga havia lhe indicado.
Percebemos, diante dessa situação, o uso concomitante de três sistemas de cuidados, o sistema profissional, em que se realiza a quimioterapia e acompanhamento profissional, o sistema popular, representado pela amiga que lhe indica uma planta para o cuidado com a saúde, e o sistema folk, neste estudo representado pela ONG pesquisada, reafirmando o exposto por Kleinman8
Em alguns momentos, o sofrimento torna-se possibilidade de encontrar o sentido da vida, rever situações e acabar com a apatia. Atualmente há uma tendência de
rapidamente eliminar o sofrimento, tal como uma anestesia, impedindo um processo muito importante na expressão e elaboração da tristeza e na compreensão do que pode ter levado à situação em questão 25
Hortênsia (40 anos) está em busca desse sentido, porém relata o quanto está sendo difícil encontrá-lo. Faz tratamento no sistema de cuidados profissional e procura forças para o enfrentamento dessa situação também no sistema de cuidados folk, utilizando as PICS disponibilizadas na ONG.
Em sua fala fica expressa a vontade de modificar sua atual situação, buscando a espiritualidade, acreditando que poderá mudar seus rumos, e pelo fator espiritual, nesse caso também mencionando a figura existente na ONG, a Religiosa- folk como essencial nessa busca.
As PICS proporcionam momentos de autoconhecimento, de descoberta da própria vida e sentido. Quando se permite escutar as vontades, as maneiras de superar determinada situação torna-se mais próximo esse encontro com o eu interior, incluindo a aproximação com a espiritualidade.
A espiritualidade consiste em uma busca humana de sentido, com uma dimensão transcendente25. Espiritualidade significa viver de acordo com a dinâmica profunda da vida. Ela revela o lado exterior, como um conjunto de relações, e o interior que se realiza como diálogo com o eu profundo, com a interiorização e a busca do próprio coração. Espiritualidade é a união dos dois lados (interior e exterior), é um processo dinâmico pelo qual se constrói a integralidade da pessoa e sua união com tudo que a cerca26
De acordo com Dantas Filho e Sá27, os benefícios proporcionados pela espiritualidade podem estar associados desde mudanças fisiológicas básicas, como a redução da tensão muscular, frequência cardíaca e pressão arterial, como também a reações mais complexas, como maior limiar da dor e sofrimento e a diminuição das reações ao estresse, levando a um maior equilíbrio27.
Contudo, entende-se que o sistema de cuidados profissional baseado no modelo biomédico poderá alcançar o alívio do desconforto, na medida em que consegue amenizar sintomas físicos por meio da medicalização ou tratamentos diversos. Entretanto, as pessoas querem um resultado além deste, pois querem sentir-se cuidadas, acolhidas, criar vínculos e construir seu próprio modo de cuidar, considerando o que faz ou não sentido naquele momento.
Percebe-se que a maioria dos usuários procurou o local devido a algum sofrimento. Além disso, alguns deles conheceram as PICS a partir da ONG, considerada de acordo com o referencial de Kleinman como um sistema de cuidados folk, que possui amplo significado social e espiritual.
A presença de Religiosa-folk nesse local foi citada por vários participantes como essencial nesse cuidado. Constatou-se que os usuários das PICS disponibilizadas na ONG foram buscar nesse ambiente um cuidado que ultrapasse a lógica mecanicista e reducionista, demonstrando ser essencial a valorização dos fatores biológicos, psicológicos, sociais, espirituais e culturais no que se refere ao cuidado.
Aponta-se como limite do estudo a não abordagem dos voluntários do serviço, além dos usuários, para que fosse melhor compreendido o sistema de cuidados que a ONG representa, visto que há profissionais de saúde e de outras áreas articulados com esse espaço de cuidados. Isso poderia enriquecer ainda mais este trabalho, pois seria possível conhecer a percepção dos voluntários a respeito do espaço de cuidados e das PICS disponibilizadas.
Destaca-se ainda a importância de os profissionais da saúde reconhecerem outros sistemas de cuidados, além do profissional, como importantes na vida dos usuários, procurando articular-se aos diferentes sistemas em busca do cuidado integral.
Pretende-se com este estudo contribuir para uma prática de enfermagem mais integrada, que se aproxime e valorize os diversos espaços de cuidados existentes, explorando e compreendendo os locais que poderão tornar-se multiplicadores de cuidados, auxiliando na superação das limitações existentes no cuidado à saúde profissional, aliando-se a possibilidade de cuidado com as PICS.
1. Concepção do projeto, análise e interpretação dos dados: Natalia Rosiely Costa Vargas, Camila Timm Bonow e Rita Maria Heck.
2. Redação do artigo e revisão crítica relevante do conteúdo intelectual: Rita Maria Heck, Natalia Rosiely Costa Vargas, Caroline Vasconcellos Lopes, Márcia Kaster Portelinha e Camila Timm Bonow.
3. Revisão e/ou aprovação final da versão a ser publicada: Natalia Rosiely Costa Vargas, Caroline Vasconcellos Lopes e Márcia Kaster Portelinha.
4. Ser responsável por todos os aspectos do trabalho na garantia da exatidão e integridade de qualquer parte da obra: Rita Maria Heck e Natalia Rosiely Costa Vargas.
1. Leininger M. Culture care diversity & universality: a theory of nursing. New York: National League for Nursing Press; 1991.
2. Caires JS, Andrade TA, do Amaral JB, Calasans MTA, Rocha MDS. A utilização das terapias complementares nos cuidados paliativos: benefícios e finalidades. Cogitare Enferm. 2014;19(3):514-20
3. Brasil. Ministério da Saúde. Práticas integrativas e complementares: plantas medicinais e fitoterapia na Atenção Básica. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2012.
4. Araújo EC. A integralidade no cuidado pela enfermagem com a utilização da fitoterapia. Rev Enferm UFPE On-Line. 2015;9(9):1-3.
5. Luz MT. Cultura contemporânea e medicinas alternativas: novos paradigmas em saúde no fim do século XX. Rev Saúde Colet. 2005;15:145-76.
6. Damasceno CMD, Dantas MGB, Lima-Saraiva SRG, Teles, RBA, Faria MD, Almeida JRG. Avaliação do conhecimento de estudantes universitários sobre medicina alternativa. Rev Baiana de Saúde Pública. 2016;40(2):289-92.
7. Langdon EJ, Wiik FB. Antropologia, saúde e doença: uma introdução ao conceito de cultura aplicado às ciências da saúde. Rev Latino-Am Enfermagem. 2010;18 (3):174-81.
8. Kleinman A. Patients and healers in the context of culture: an exploration of the bordeland between anthropology, medicine and psychiatry. California: Regents; 1980.
9. Saraiva AM, Ferreira Filha MO, Dias MD. Práticas terapêuticas na rede informal com ênfase na saúde mental: histórias de cuidadoras. Rev Eletrônica Enferm. 2008;10(4):1004-14.
10. Lacerda A, Valla V. Homeopatia e apoio social: repensando as práticas de integralidade na atenção e no cuidado à saúde. In: Pinheiro R, Mattos RA, organizadores. Construção da integralidade: cotidiano, saberes e práticas de saúde. 4a ed. Rio de Janeiro (RJ): UERJ; 2007.
11. Deslandes SF, Cruz Neto O, Gomes R, Minayo MCS, organizadora. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis (RJ): Vozes; 2016.
12. Triviños ANS. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em educação. São Paulo (SP): Atlas, 2008.
13. Gil AC. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6a ed. São Paulo (SP): Atlas, 2010.
14. Brasil. Conselho Federal de Enfermagem. Resolução Cofen n. 564/2017. Brasília (DF); 2017.
15. Brasil. Ministério da Saúde. Resolução n. 466, de 12 de dezembro de 2012. Brasília (DF); 2012.
16. Minayo MCS. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 14a ed. São Paulo (SP): Hucitec; 2014.
17. Barros, JAC. Pensando o processo saúde doença: a que responde o modelo biomédico? Saúde Soc. 2002;11(1): 67-84.
18. Leininger M, Farland MR. Culture care diversity and universality: a worldwide nursing theory. 2a ed. New York: McGraw-Hill; 2006.
19. Brasil. Ministério da Saúde. Acolhimento nas práticas de produção de saúde. 2a ed. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2010.
20. Ghizoni AC, Arruda MP, Tesser CD. La integralidad en la visión de los fisioterapeutas de un municipio de porte mediano. Interface. 2010;14(35):825-37.
21. Leininger M. Theoretical questions and concerns: response from the theory of culture care diversity and universality perspective. Nurs Sci Q. 2007;20(1):9-13.
22. Spadacio C, Barros NF. Uso de medicinas alternativas e complementares por pacientes com câncer: revisão sistemática. Rev Saúde Pública. 2008;42(1):158-64.
23. Brasil. Lei n. 12.732, de 22 de novembro de 2012. Dispõe sobre o primeiro tratamento do paciente com neoplasia maligna comprovada e estabelece prazo para seu início. Brasília (DF); 2012.
24. Gao H, Kuroyanagi M, Wu L, Kawahara N, Yasuno T, Nakamura Y. Antitumorpromoting constituents from Dioscorea bulbifera L. in JB6 mouse epidermal cells. BiolPharm Bull. 2002;25(9):1241-3.
25. Kovács MJ. Espiritualidade e psicologia: cuidados compartilhados. Mundo Saúde. 2007;31(2):246-55.
26. Barreto AF, organizador. Integralidade e saúde: epistemologia, política e práticas de cuidado. Recife (PE): Editora Universitária da UFPE; 2011.
27. Dantas Filho VP, Sá FC. Ensino médico e espiritualidade. Mundo Saúde. 2007;31(2):273-80.
Recebido: 30.5.2019. Aprovado: 23.2.2022.
DOI: 10.22278/2318-2660.2020.v44.n4.a3131
EPIDEMIOLOGIA DAS HEPATITES VIRAIS NO BRASIL
Camila Maciel Diasa
https://orcid.org/0000-0002-5150-0748
Luís Felipe Guimarães Cunhab
https://orcid.org/0000-0001-6992-2220
João Pedro Abreu Carvalhoc
https://orcid.org/0000-0001-8118-3141
Farley Henrique Duarted
https://orcid.org/0000-0003-2501-7784
Lucca Scolari Goyatáe
https://orcid.org/0000-0003-4674-0672
Gisele Aparecida Fófanof
https://orcid.org/0000-0003-2154-9732
As infecções virais que acometem o fígado são denominadas hepatites e, geralmente, podem ter cinco etiologias, desde o vírus A ao vírus E. As manifestações clínicas dependem do tipo viral, assim como variam de acordo com a etiologia das doenças, sendo assim, conhecer esses dados é necessário para compreender as variáveis das áreas afetadas. Este artigo visa comparar os dados disponíveis nos sistemas de informações
a Médica no Hospital Municipal Tristão da Cunha, no Hospital Nossa Senhora dos Anjos, na Atenção Primária do Programa Emad e Ponto de Apoio da ESF São João. Itambacuri, Minas Gerais, Brasil. E-mail: mila-m.d@hotmail.com
b Médico no Hospital Municipal Doutor Carlos Marx, no Hospital São Vicente de Paulo e na Atenção Primária na ESF Pedro Guedes. Malacacheta, Minas Gerais, Brasil. E-mail: luisfagoc2019@gmail.com
c Médico no Hospital São Francisco, na cidade de Iguatama (MG), no Hospital Santa Casa, na cidade de Arcos (MG) e no Atendimento de Atenção Primária no ESF Bela Vista. Iguatama, Minas Gerais, Brasil. E-mail: jpsac_001@hotmail.com
d Médico no Hospital Municipal e Pronto Socorro em Várzea da Palma (MG) e no Hospital Municipal de Francisco Sá. Montes Claros, Minas Gerais, Brasil. E-mail: farleyduarte@hotmail.com
e Médico na Atenção Primária pela Prefeitura de Barbacena (MG) na ESF Funcionários. Barbacena, Minas Gerais, Brasil. E-mail: luccagoyata1s4@gmail.com
f Enfermeira. Doutoranda em Saúde Coletiva pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Docente do Curso de Medicina e Coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos no Unifagoc. Ubá, Minas Gerais, Brasil.
E-mail: giselefofano@gmail.com
Endereço para correspondência: Rua Professora Violeta Santos, n. 31, bloco 6, apto 603, Democrata. Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil. CEP: 36.035-510. E-mail: giselefofano@gmail.com
on-line do governo brasileiro. Foi constatada a necessidade de atualização do banco de dados, tendo em vista sua importância para produção científica e elaboração de ações. Este é um estudo transversal, baseado no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus) e em documentos oficiais do governo brasileiro, como os boletins epidemiológicos. Foram incluídos aqueles que citaram informações de incidência e/ou prevalência e/ou continham suas relações com características sociais, econômicas ou culturais, com retrospecto de até cinco anos. Entre os resultados, a transmissão das hepatites por via sexual é a predominante no Brasil, assim como foi predominante em todos os estados. O segundo lugar foi variável, sendo no Sul e Sudeste o uso de drogas injetáveis, enquanto no Norte, Nordeste e Centro-Oeste predominou a contaminação por água e alimentos. Contraditoriamente, a hepatite C predomina nas regiões Sul e Sudeste, enquanto nas demais predomina a hepatite B. Compreender os fatores individuais de cada região pode provir o estudo da base de dados, inclusive sendo importante ação de prevenção e promoção da saúde.
Palavras-chave: Hepatite. Fatores de risco. Saúde pública. Epidemias.
Abstract
Hepatitis refers to viral infections that affect the liver and can usually present five etiologies, from virus A to virus E. The clinical manifestations depend on the viral type, which varies according to the disease etiology. Know these data is therefore necessary to understand the variables of the affected areas. Hence, this article compares the data available in the Brazilian government’s online information systems. The database requires updating given its importance for scientific production and policy development. This is a cross-sectional study based on the SUS Informatics Department (DATASUS) and on official documents, such as the epidemiological bulletins. Documents which cited incidence and/or prevalence information and/or contained their relation to social, economic, or cultural characteristics, with a retrospective of up to 5 years, were included. Results show that sexually transmitted Hepatitis predominates in Brazil, as is prevalent in all states. The second place varied: while injecting drug use are prevalent in the South and Southeast, water and food contamination predominate in the North, Northeast, and Midwest. Contradictorily, hepatitis C predominates in the South and Southeast regions, while hepatitis B is prevalent in the remaining ones. Understanding the
individual factors of each region can derive from studying the database, including being an important action for prevention and health promotion.
Keywords: Hepatitis. Risk factor. Public health. Epidemics.
Las infecciones virales que afectan al hígado se denominan hepatitis y, generalmente, pueden tener cinco etiologías desde el virus A hasta el virus E. Teniendo en cuenta que las manifestaciones clínicas van a depender del tipo viral, así como también varían de acuerdo con la etiología de las enfermedades, conocer estos datos son necesarios para comprender las variables de las áreas afectadas. Este artículo pretende comparar los datos disponibles en los sistemas de información online del gobierno brasileño. Se percibió la necesidad de actualizar esa base de datos para demostrar su importancia para la producción científica y elaboración de acciones. Este es un estudio transversal, basado en el Departamento de Informática del Sistema Único de Salud (DATASUS) y los documentos oficiales del gobierno brasileño, como los boletines epidemiológicos. Se incluyeron aquellos que citaron informaciones de incidencia y/o prevalencia y/o contenían sus relaciones con características sociales, económicas o culturales con retrospección de hasta cinco años. Entre las hepatitis, la transmisión por vía sexual es la predominante en Brasil, en todos los estados. El segundo lugar fue variable siendo en el Sur y Sudeste el uso de drogas inyectables, mientras que en el Norte, Nordeste y Centro-Oeste predominaron la contaminación a través de agua y alimentos. En contraste, la hepatitis C predomina en las regiones Sur y Sudeste, mientras que en las demás regiones es predominante la hepatitis B. Comprender los factores individuales de cada región puede ayudar el estudio de la base de datos, inclusive es una importante acción de prevención y promoción de la salud.
Palabras clave: Hepatitis. Factores de riesgo. Salud pública. Epidemias.
As infecções virais que têm como alvo o fígado são chamadas de hepatites. Elas podem ter apresentação aguda ou crônica, podendo ser desde assintomáticas até terem formas fulminantes, a resposta dependerá do agente etiológico e da imunidade do hospedeiro. Os vírus conhecidos como causadores dessa doença podem ser, principalmente, de cinco tipos:
VHA (vírus da hepatite A), VHB (vírus da hepatite B), VHC (vírus da hepatite C), VHD (vírus da hepatite D) e VHE (vírus da hepatite E)1.
A depender do tipo viral, o paciente pode apresentar um pleomorfismo clínico, os vírus A e E, por exemplo, se relacionam a formas predominantemente agudas de hepatite, enquanto os demais sorotipos podem se apresentar tanto na forma aguda quanto na crônica. Em qualquer um dos quadros clínicos, a presença desse vírus deve ser notificada ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan)2, entretanto, ainda há carência de métodos diagnósticos que permitam o resultado de uma sorologia rápida e precisa, sobretudo para as hepatites agudas e fulminantes3
Cada vírus tem sua particularidade de transmissão: o VHA e o VHE se relacionam a condições de higiene, sendo a transmissão feita principalmente por via fecal-oral. Já o VHB, VHC e VHD adentram o corpo do indivíduo a partir de seringas ou objetos perfurocortantes contaminados, contato direto com amostras de sangue contaminadas, assim como por meio do contato sexual (principalmente VHB)4
Entre os cinco sorotipos, os mais comuns em nosso país são VHA, VHB e VHC, os quais separadamente já infectaram mais de 160.000 pessoas cada um no período de 1999-20175. Há prevenção por meio da vacina para VHB e VHA, e todos os tipos têm tratamento, enquanto entre as crônicas com possibilidade de cura tem-se a causada pelo VHC6
Tendo em vista esse alarmante dado epidemiológico, é necessário descrever as principais áreas afetadas, assim como os principais vírus relacionados a elas visando instigar a construção de ações que atentem à prevenção dessas doenças de forma mais direta e correta. Além disso, este artigo comparará os dados disponíveis no Sinan de forma anual, assim, se perceberá a necessidade de atualização dessa base de dados, bem como demonstrar sua importância para produção científica.
Este é um estudo transversal, orientando sua pesquisa nas bases de dados on-line do Datasus e documentos oficiais do governo brasileiro, como os boletins epidemiológicos. Foram incluídos manuscritos que citaram informações como incidência e/ou prevalência e/ou continham suas relações com características sociais, econômicas ou culturais.
Para compor os resultados, a coleta de dados teve o limite de cinco anos, ou seja, somente foram utilizados documentos produzidos entre 2014 e 2019. Estes foram ainda comparados com projeções oficiais quando estas estiveram disponíveis. Foram excluídos
documentos que relacionavam hepatites virais a outras doenças não crônicas e dados classificados como hepatites não especificadas (Hep NE) e outras hepatites virais. Todo tratamento estatístico foi feito no aplicativo para notebook Microsoft Excel 2016 para o sistema operacional Windows 10.
Quanto à incidência das hepatites, observa-se a distribuição do agente etiológico relacionado às regiões brasileiras segundo a Figura 1.

Figura 1 – Incidência de hepatite no Brasil, segundo etiologia e regiões geográficas, entre 2014 e 2018. Ubá, Minas Gerais, Brasil – 2019
O número total de adoecidos provém de uma análise rápida do sistema de informação, ele aponta que existem 216.397 indivíduos que adquiriram a comorbidade entre 2014 e 2018. Entretanto, a análise da tabela de forma mais acurada se dá após a retirada dos dados inconclusivos, como os casos em que a avaliação da etiologia não se aplicava ou os casos em que os testes diagnósticos foram inconclusivos. Dessa forma, restaram 205.704 indivíduos, comprovadamente adoecidos, ou seja, foram perdidos 10.693 pacientes, um total de 4,94% do número anterior. O total de acometidos está distribuído entre as regiões indicadas na Figura 2 .
Figura 2 – Distribuição das hepatites de acordo com a região geográfica. Ubá, Minas Gerais, Brasil – 2019
Fonte: Datasus (2019).
Entre as formas de transmissão predominantes no Brasil, deve-se destacar as descritas na Figura 3.
Figura 3 – Transmissão de hepatite no Brasil entre 2014 e 2018. Ubá, Minas Gerais, Brasil – 2019 Fonte: Datasus (2019).

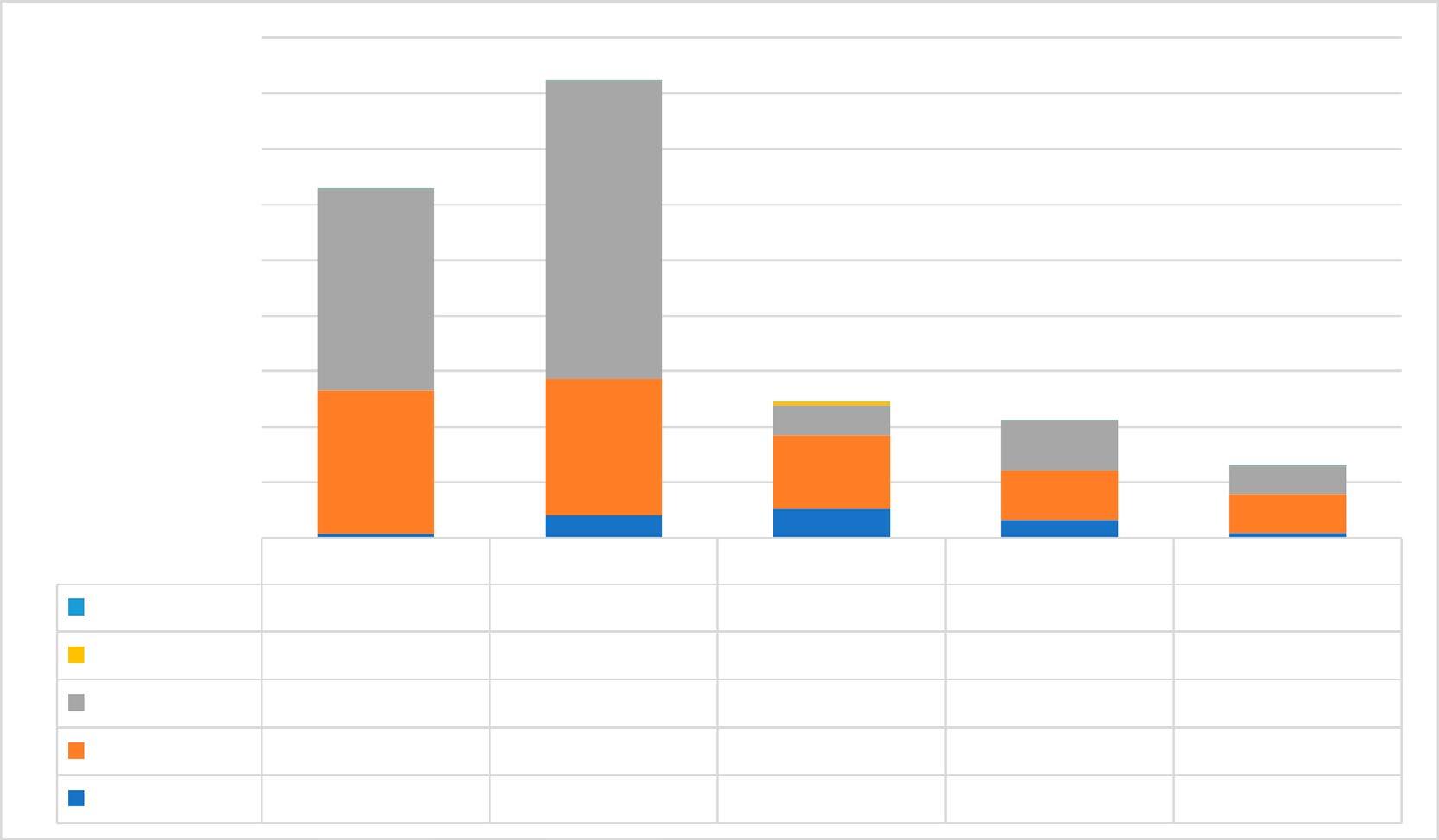
Quanto às regiões brasileiras, a Sudeste apresentou maior número de casos, com 87.191 casos, a região Sul foi a segunda colocada em número de casos, com 65.426 infectados, em ordem decrescente se encontram as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste com respectivamente 26.394, 23.027, 14.309 casos. Mais detalhes sobre os casos estão descritos na Tabela 1
Tabela 1 – Número de casos no Brasil por região geográfica. Ubá, Minas Gerais, Brasil – 2019
Entre as regiões brasileiras, o Sudeste apresentou o maior número de casos no período 2014 a 2018, correspondendo a 40,23% do total de pessoas efetivamente afetadas pela comorbidade. Analisando os contaminados desta região, a predominância foi de HVC, correspondendo a 63,63% dos casos, e em segundo lugar HVB, correspondendo a 29,68% do total de casos. Os casos válidos da região Sudeste, relacionados aos estados, estão descritos na Figura 4 .
O Espírito Santo detém a exceção de ser o único estado onde a HBV é a etiologia mais comum. A menor taxa de infecção é relacionada a HVE, com apenas 0,03% dos casos de acometimento, seguida da coinfecção de hepatite B+D, 0,05%.
Entre as características socioeconômicas mais comuns aos pacientes do estado mais atingido, São Paulo com 62,10% de todos os casos da região, corroborando com os demais estados, o sexo masculino foi mais acometido que o feminino, sendo o perfil de adoecidos maior entre aqueles com Ensino Médio completo, entre 40 e 59 anos e pele branca.

Entre as causas de contaminação das hepatites, a mais comum na região Sudeste foi via sexual, enquanto o segundo lugar foi uso de drogas injetáveis. Esse mesmo padrão pode ser observado na maioria dos outros estados, com exceção do Rio de Janeiro, onde, embora o primeiro lugar de transmissão tenha permanecido via sexual, o uso de drogas injetáveis perdeu o segundo lugar para a via transfusional.
Essa região ocupa o segundo lugar entre as maiores incidências de hepatite, correspondendo a cerca de 30,89% dos casos entre os brasileiros infectados. O vírus mais prevalente dessa região também foi o HVC com 53,83% dos casos, entretanto, ao se
analisar os estados da região Sul, percebe-se que a maioria dos estados isoladamente possuem números mais elevados de HVB, com exceção do Rio Grande do Sul. O HVE continua sendo o que tem menor incidência, com apenas 0,02% de acometimento em toda a região. As demais distribuições virais de acordo com o estado se encontram descritos na Figura 5 .

Figura 5 – Distribuição de casos de hepatite entre 2014 e 2018 na região Sul, segundo agente etiológico, em números absolutos. Ubá, Minas Gerais, Brasil – 2019
A população infectada no Rio Grande do Sul contempla, em geral, a dos demais estados, sendo em sua maioria homens de pele branca, com Ensino Fundamental incompleto, entre 40 e 59 anos.
Entre os métodos de transmissão, novamente destacaram-se via sexual e uso de drogas injetáveis. A primeira é responsável por 31,30% dos casos cuja transmissão é conhecida, enquanto a segunda corresponde a 18,64% dos acometidos pela doença, excluindo-se os não informantes.
A região Nordeste detém 10,43% dos casos brasileiros registrados. Quanto aos estados, estão registrados na Figura 6
Figura 6 – Número de casos de hepatite distribuídos na região Nordeste entre 2014 e 2018. Ubá, Minas Gerais, Brasil – 2019

Na região há predomínio de hepatite B, seguida de HVC. O primeiro corresponde a 41,48% dos casos de hepatite nos estados, o segundo lugar praticamente empata com o primeiro, com 41,37% dos casos, ou seja, em números absolutos, o primeiro registra 8.901 casos, e o segundo 8.877.
A Bahia foi o estado com maior número de acometidos e traz consigo boa parte do que contempla a população acometida, em sua maioria homens, pardos, de 40 a 59 anos, com Ensino Médio completo. Ressalta-se que o Maranhão foi o único estado entre todas as regiões a apresentar maioria feminina em acometimentos.
Entre as principais formas de transmissão, a forma sexual está em primeiro lugar, com 31,92% dos casos cuja transmissão foi identificada, são cerca de 2.926 pacientes infectados por esta via, enquanto via alimento e água são as principais formas de transmissão para 26,55% dos pacientes, ou seja, 2.434 pacientes adquiriram a doença por estas fontes.
A hepatite B também predomina na região Centro-Oeste, com 52,54% dos casos. Em segundo lugar fica a HVC em predominância com 37,86% dos casos. Entre todos os estados, 50% têm predominância de HVC e os demais 50% de HVB. Os demais dados estão descritos na Figura 7
Figura 7 – Distribuição da hepatite em estados região Centro-Oeste em números absolutos entre 2014 e 2018. Ubá, Minas Gerais, Brasil – 2019

O Mato Grosso deteve 36,00% dos acometimentos da região, sendo em sua maioria homens de pele parda, com Ensino Médio completo, entre 20 e 39 anos, contemplando as características dos demais estados da região.
O modo de transmissão mais comum na região Centro-Oeste é via sexual, com 2.089 indivíduos infectados, ou seja, cerca de 43,69% dos pacientes desta região. A segunda via mais comum são alimentação e água contaminadas, com 627 casos, isto é, 13,11% dos pacientes se infectaram desta maneira.
O número de infectados na região Norte é 12,12% de todos os casos brasileiros confirmados. Nesta região há predomínio de HVB. Ressalta-se a importante exceção de Amapá e Tocantins, onde há predomínio de Hepatite A. As demais distribuições quanto à etiologia estão demonstradas na Figura 8.
Figura 8 – Distribuição das etiologias da hepatite, de acordo com os estados da região Norte, entre 2014 e 2018 em números absolutos. Ubá, Minas Gerais, Brasil – 2019
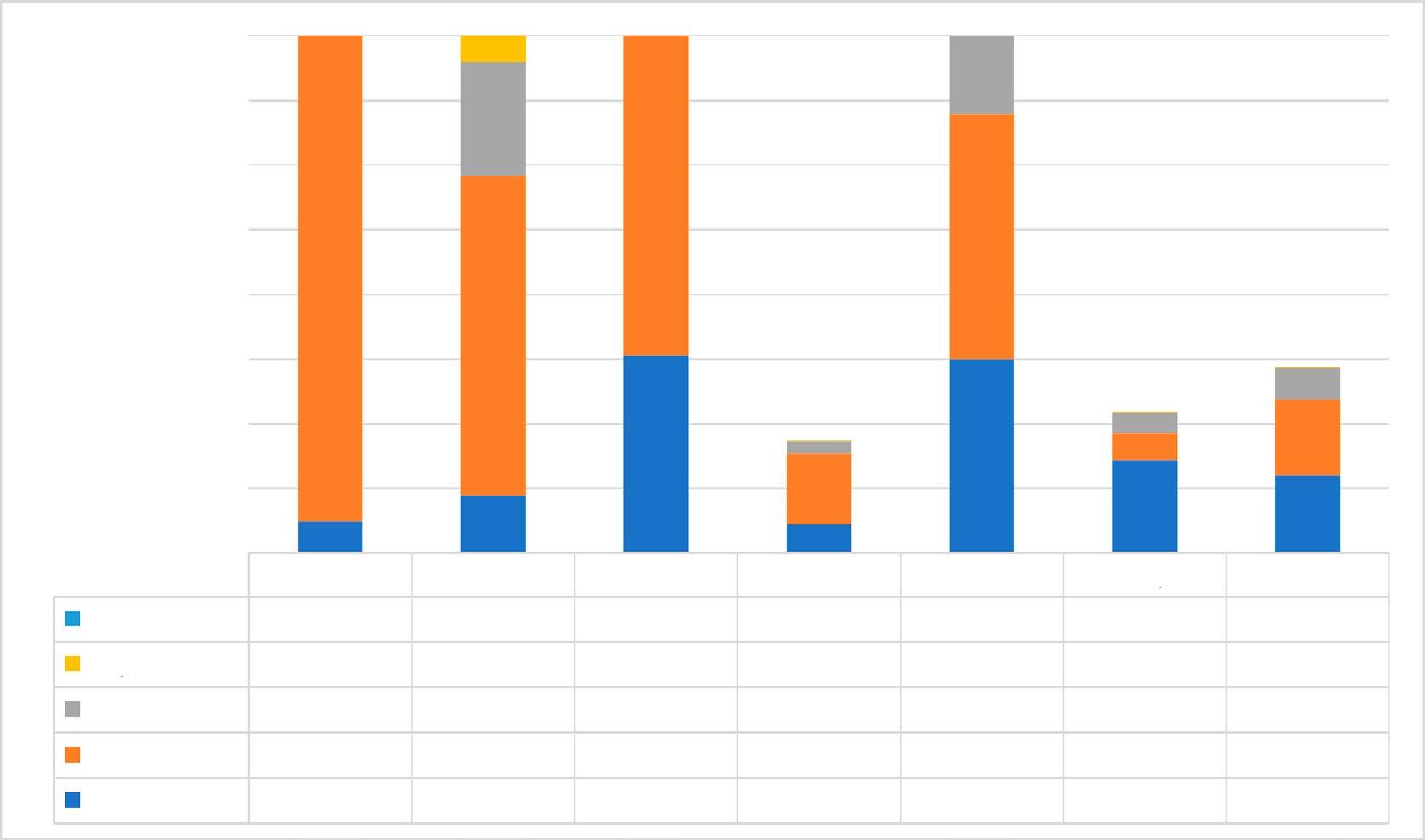
Ressalta-se que os casos de hepatite E da região Norte foram os menores de todo o Brasil, com somente 0,001% dos casos diagnosticados.
A população acometida no Amazonas representa parcialmente bem a população acometida nesta região, com maior número de acometimentos, sendo novamente homens, mas desta vez, pardos, também com Ensino Fundamental incompleto, mais novos do que nas demais regiões, entre 20-39 anos, sendo esse dado contrário ao perfil da região.
A transmissão predominante no Norte também é via sexual, entretanto, apresenta variação com relação ao segundo lugar, pois aqui se destaca água e alimentos. Entre os casos etiológicos da região, a primeira apresenta 49,14% quanto ao número de contaminados, já a segunda representa o veículo de aquisição da doença em 33,10% dos pacientes.
A transmissão das hepatites via sexual é a predominante no Brasil, assim como foi predominante em todos os estados, sendo a via de entrada para os vírus mais comuns7. Destaca-se aqui a hepatite C, pois é a que teve maior número de casos considerando-se a população brasileira no geral e nas regiões Sul e Sudeste, enquanto nas demais houve predomínio da hepatite B. Possivelmente, esta alteração se deve ao fato de que 71,29% da população do Sudeste e 79,01% do Sul estavam vacinadas em 2018, enquanto na região Norte esse número chegava a 65,65% e no Nordeste a 68,00%. Entretanto o Centro-Oeste detinham coberturas maiores que a região Sudeste8. Assim, pode-se concluir que somente a vacinação não é o fator mais importante para a redução da hepatite B.
Entretanto, quanto à vacinação, os dados nacionais não parecem corresponder à realidade das regiões, pois usualmente a vacinação de hepatite B ocorre no nascimento, e observa-se que no período de 2015-2017 a taxa de vacinação em crianças menores de 1 ano, segundo o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI), subiu de 3,02% para 3,56% na população brasileira, tendo inclusive uma queda de 0,8% em 2016 antes de subir aproximadamente 0,9%, ou seja ainda distante de encontrar sua idealidade e constância na população como forma de evitar adoecimentos futuros9.
Isso pode se relacionar à não atualização constante da base de dados do SIPNI, o que faz com que o panorama mais atual da população não seja explorado, sendo, portanto, difícil definir novas estratégias de campanhas de vacinação.
Outra opção pode ser o tamanho da população em situação de vulnerabilidade, pois estas são predominantes nos estados da região Nordeste e Centro-Oeste10, as quais geralmente tem menos informações, são menos letradas em saúde pelos profissionais11, contribuindo assim para a disseminação viral, haja vista a não utilização de métodos contraceptivos de forma adequada, o que corrobora este estudo, que descreveu a via sexual como a principal causa de transmissão.
Dentro do contexto nacional, a segunda forma de transmissão mais comum foi o uso de drogas injetáveis, assim como observado no Sul e no Sudeste. Segundo o relatório da Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Crime (UNODC) de 2011, no continente americano o número de usuários de drogas injetáveis variava entre 2,908,787 e 4,019,04112. Como não há dados individuais do Brasil, pode-se especular que o número de usuários seja alto em todo o território nacional. Mas podemos supor que seja maior sobretudo nos locais com maior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)10,12, visto que continentes com maior IDH apresentam maiores números de usuários.
Entretanto, quando se avalia as regiões isoladamente, percebe-se que na maioria delas (Centro-Oeste, Norte e Nordeste) teve-se como segunda causa-base de transmissão a contaminação de água e alimentos. Um fator que contribui para isso pode ser a falta de saneamento básico adequado, sobretudo com relação à rede de esgoto. A região Norte apresenta apenas 13,36% dos municípios com rede de esgoto, já a região Nordeste apresenta 45,68%, enquanto a Centro-Oeste tem somente 28,33% de coletas corretas de esgoto13.
Por ter forma assintomática, a hepatite A pode ter sua prevalência muito maior do que a demonstrada, sobretudo nas áreas onde o saneamento básico é escasso e há grande taxa de natalidade, uma vez que as crianças estão mais susceptíveis a esse vírus devido às baixas noções de higiene14. Dessa forma, estima-se que crianças na região Sudeste possam estar cada vez mais expostas15, por aumento da natalidade, motivo diferente das demais regiões.
Um ponto peculiar da região Norte, mas que pode não se reduzir a ela, é a reutilização de materiais perfurocortantes descartáveis, suposta por Fonseca16, de acordo com sua experiência pessoal, que pode contribuir para a transmissão de hepatite B e D sem que os indivíduos tenham conhecimento sobre a real forma de transmissão. Embora haja legislação para tal descarte, não há nenhuma estimativa de dados atualizados relacionados ao descarte ou ainda a utilização deles.
Em geral, em todas as regiões os homens foram os mais acometidos pela doença, com exceção do estado do Maranhão. O fato de indivíduos do sexo masculino serem mais acometidos é justificável pelo fato de que 31% dos homens ainda não procuram serviços de saúde, ou seja, culturalmente o homem já se imagina alheio às doenças e dessa forma acaba sendo mais acometido por elas17. Esse fato pode ter contribuído para a formação de um viés no estado do Maranhão, pois pode ser um estado onde homens procurem menos o serviço de saúde do que a média nacional.
Entre as faixas etárias, a maioria da população acometida se encontrava entre 40-59 anos, com exceção do Norte em que a maioria é de idosos entre 60-69 anos, e no Amazonas em que a maioria é de 20-39 anos. Por ser uma causa importante de comorbidade em pessoas mais jovens, deve-se pensar nos gastos para o sistema de saúde devido a sua progressão a longo prazo, como cirrose, carcinoma ou até transplante hepático. Em 2005, os gastos com hepatite crônica por VHB alcançavam mais de R$ 12.921,6 por paciente, para a cirrose descompensada chegava a R$ 22.022,61, e para o transplante R$ 35.200,0018, a ponto de na Bahia o gasto chegar a R$ 241.650,68 para tratar as hepatites, as quais foram responsáveis por 59,1% dos gastos do Sistema Único de Saúde (SUS) no Nordeste, correspondendo a 1,3 milhão de reais19.
Em relação a infectados conforme escolaridade, a maioria tem ensino médio completo, com exceção do Sul, onde os casos se dão entre escolarizados entre quinta e sétima série. Ambos os dados surpreenderam, pois esperava-se que analfabetos, por terem mais dificuldade de aquisição e utilização da informação, fossem os mais acometidos pelos vírus. Entretanto, o grau de escolaridade não pode ser correlacionado de forma totalmente assertiva ao conhecimento sobre transmissão e consequentemente prevenção de doenças, como a hepatite B20. Santos, Gonçalves e Nunes20 ressaltaram em seus estudos que a maior parte dos pacientes não associava a hepatite B a uma doença sexualmente transmissível e atribuía a sua transmissão principal por contatos com materiais perfurocortantes não esterilizados, fato que é mais relacionado à transmissão da hepatite C. Pode ser que esse conhecimento errôneo também se manifeste em outras populações e contribua para a redução da hepatite C, a qual não predomina na maioria das regiões brasileiras, entretanto, não saber corretamente como não se proteger do VHB pode contribuir para a alta incidência no Brasil.
Devido à vasta extensão territorial brasileira, os fatores de transmissão das doenças divergem entre as populações devido às condições socioeconômicas em que estão inseridas. É provável que a solução para a queda na transmissão das hepatites A e E esteja ligada à garantia de saneamento básico para todos, já no caso das hepatites B e C é preciso investimento no controle e conscientização do contato pessoa-pessoa. Além disso, as bases de dados oficiais não mantêm os registros atualizados constantemente, o que deixa brechas literárias, logo, qualquer resultado fica mais preso ao passado longínquo do que correspondendo à realidade atual, podendo prejudicar projetos que utilizam as bases de dados como alicerce de justificativa.
1. Concepção do projeto, análise e interpretação dos dados: Camila Maciel Dias, Luís Felipe Guimarães Cunha, João Pedro Abreu Carvalho, Farley Henrique Duarte, Lucca Scolari Goyatá, Gisele Aparecida Fófano.
2. Redação do artigo e revisão crítica relevante do conteúdo intelectual: Camila Maciel Dias, Luís Felipe Guimarães Cunha, João Pedro Abreu Carvalho, Farley Henrique Duarte, Lucca Scolari Goyatá, Gisele Aparecida Fófano.
3. Revisão e/ou aprovação final da versão a ser publicada: Gisele Aparecida Fófano.
4. Ser responsável por todos os aspectos do trabalho na garantia da exatidão e integridade de qualquer parte da obra: Camila Maciel Dias, Luís Felipe Guimarães Cunha, João Pedro Abreu Carvalho, Farley Henrique Duarte, Lucca Scolari Goyatá, Gisele Aparecida Fófano.
1. Brasil. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. Guia de vigilância em saúde. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2014.
2. Minas Gerais. Secretaria de Estado de Saúde. Hepatites virais [Internet]. 2017 [citado em 2022 maio 5]. Disponível em: http://www.saude.mg.gov.br/hepatite
3. Ferreira CT, Silveira TR. Hepatites virais: aspectos da epidemiologia e da prevenção. Rev Bras Epidemiol. 2004;7(4):473-87.
4. Ferreira VM, Gonçalves E, Gonzaga LMO. Hepatites virais: epidemiologia dos casos notificados no estado de Minas Gerais entre 2005 e 2014. Unimontes Científica. 2017: 19(1):70-8.
5. Brasil. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. Hepatites virais 2018. Boletim Epidemiológico. 2018;49(31):1-72.
6. Brasil. Ministério da Saúde. Hepatite: causas, sintomas, diagnóstico, prevenção e tratamento [Internet]. 2017 [citado em 2019 maio 9]. Disponível em: http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/hepatite
7. Brasil. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica. A, B, C, D, E de hepatites para comunicadores. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2005.
8. Brasil. Ministério da Saúde. Datasus [Internet]. 2019 [citado em 2022 maio 5]. Disponível em: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?pni/cnv/cpniuf.def
9. Brasil. Ministério da Saúde, Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações. Campanha nacional de multivacinação 2017: vacinômetro [Internet]. 2017 [citado em 2022 maio 5]. Disponível em: http://sipni-gestao.datasus.gov.br/si-pni-web/faces/relatorio/consolidado/ vacinometroMultivacinacao.jsf
10. Brasil. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento das Nações Unidas. Atlas do desenvolvimento humano do Brasil 2010 [Internet]. 2010 [citado em 2019 maio 8]. Disponível em: http://www.atlasbrasil.org.br /2013/pt/consulta/
11. Brêtas, JRS. Vulnerabilidade e adolescência. Rev Soc Bras Enf Ped. 2010;10(2):89-96.
12. United Nations Office on Drugs and Crime. World Drug Report 2013. New York: United Nations; 2013.
13. Brasil. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa nacional de saneamento básico [Internet]. 2017 [citado em 2022 maio 5]. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/multidominio/meio-ambiente/9073pesquisa-nacional-de-saneamento-basico.html?=&t=destaques
14. Santos KS, Guimarães RJPS, Sarmento PSM, Morales GP. Perfil da hepatite A no município de Belém, Pará, Brasil. Vigil Sanit Debate. 2019;7(2):18-27.
15. Pereira FEL, Gonçalves CS. Hepatite A. Rev Soc Bras Med Trop. 2003;36(3):287-400.
16. Fonseca JCF. Histórico das hepatites virais. Rev Soc Bras Med Trop. 2010; 43(3):322-30.
17. Brasil. Ministério da Saúde. Ministério da Saúde incentiva homens a cuidar da saúde [Internet]. 2016 [citado em 2022 maio 5]. Disponível em: https:// www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2016/novembro/ministerio-dasaude-incentiva-homens-a-cuidar-da-saude
18. Castelo A, Pessôa MG, Barreto TCBB, Alves MRD, Araújo DV. Estimativas de custo da hepatite crônica B no Sistema Único de Saúde brasileiro em 2005. Rev Assoc Med Bras. 2007;53(6):486-91.
19. Souza Júnior EV de, Silva SR, Nunes GA, Santos LV, Souza DF, Lopes NS et al. Gastos públicos com hospitalizações devido às hepatites virais. Rev Enferm UFPE On-Line. 2019;13:e240109.
20. Santos MC, Gonçalves FB, Nunes SH. Avaliação do conhecimento da população sobre hepatite B e outras doenças sexualmente transmissíveis em moradores da cidade de São Paulo. J Health Sci Inst. 2017;35(4)243-7.
Recebido: 27.6.2019. Aprovado: 20.8.2021
ARTIGO ORIGINAL DE TEMA LIVRE
PRECOCE: ESTUDO QUALITATIVO COM NUTRIZES
Sthefane Pires dos Santosa
http://orcid.org/0000-0002-8461-6675
Lana Mércia Santiago de Souzab
http://orcid.org/0000-0003-0432-8874
Jerusa da Mota Santanac
http://orcid.org/0000-0002-8920-0097
Resumo
O curso da amamentação é influenciado por diversos fatores correlacionados, que podem favorecer ou não a manutenção do aleitamento. Sendo assim, é fundamental conhecer os fatores que levam a tal interrupção em diferentes contextos. Este estudo objetivou compreender a vivência em relação ao aleitamento materno e sua interrupção precoce entre nutrizes em um serviço de atenção básica à saúde, de um município na Bahia. Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, descritiva e analítica, realizada por meio de entrevistas semiestruturadas, aplicadas às nutrizes que interromperam precocemente o aleitamento materno dos filhos. Ao todo, foram entrevistadas 14 nutrizes com idade entre 19 e 40 anos. As entrevistas foram gravadas e transcritas, para posterior análise dos conteúdos das falas e organização em categorias analíticas. Entre as principais alegações para a interrupção foram citados mitos de “leite fraco”, “pouco leite” e “leite secou”, as intercorrências mamárias, o retorno da mulher ao âmbito de trabalho e aos estudos, bem como as experiências e vivências das nutrizes durante o curso da amamentação. Assim, constata-se que o ato de amamentar envolve uma série de fatores, que necessitam ser abordados, superando a ideia da amamentação plena e sem dificultadores, para que, apoiadas, essas mulheres possam reconhecer os desafios, mas principalmente os ganhos da prática da amamentação.
a Nutricionista. Cruz das Almas, Bahia, Brasil. E-mail: sthefane_pires@hotmail.com
b Nutricionista. Professora no Departamento de Ciências da Vida da Universidade do Estado da Bahia. Mestre em Alimentos, Nutrição e Saúde. Salvador, Bahia, Brasil. E-mail: lanamercia@gmail.com
c Professora Adjunta do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Bahia. Doutora em Saúde Coletiva. Santo Antônio de Jesus, Bahia, Brasil. E-mail: jerusanutri@ufrb.edu.br
Endereço para correspondência: Sthefane Pires dos Santos. Rua Inácia dos Santos, n. 49, Santo Antônio. Cruz das Almas, Bahia, Brasil. CEP: 44380-000. E-mail: sthefane_pires@hotmail.com
O ato de amamentar envolve questões complexas, despertando nas mulheres sentimentos tanto positivos quanto negativos que se embricam com a escolha de manutenção do aleitamento materno exclusivo. Dessa forma, é importante que os profissionais de saúde compreendam o contexto social e cultural em que a mulher está inserida, colocando-a como protagonista nesse processo.
Palavras-chave: Aleitamento materno. Pesquisa qualitativa. Nutrição infantil.
Abstract
Breastfeeding is influenced by several correlated factors, which may favor or disadvantage its maintenance, thus it is necessary to know those factors that lead to such interruption in different contexts. This qualitative, descriptive and analytical study investigates the experience regarding breastfeeding and its early interruption among nursing mothers in a primary healthcare service in Bahia, Brazil. Data was collected by means of semistructured interviews with nursing mothers who interrupted early the breastfeeding of their children. In all, 14 nursing mothers, aged between 19 to 40 years, were interviewed. After being recorded, the interviews were transcribed for later content analysis and organization into analytical categories. Among the main reasons for interrupting breastfeeding were the myths of “weak milk,” “little milk,” and “dried-up milk.” Breast complications, the women’s return to the workplace and university, as well as the experiences of nursing mothers during breastfeeding. Hence, it appears that the act of breastfeeding involves a series of factors that need to be addressed, overcoming the idea of full breastfeeding and without hindrances, so that, with support, these women can recognize the challenges, but especially the gains of breastfeeding. The act of breastfeeding involves complex issues, awakening in women both positive and negative feelings that become entangled with the choice of maintaining exclusive breastfeeding. Thus, health professionals must understand the social and cultural context in which women are inserted, placing them as protagonists in this process.
Keywords: Breastfeeding. Qualitative research. Child nutrition.
El curso de la lactancia materna está influenciado por diversos factores correlacionados, que pueden favorecer o no el mantenimiento de la lactancia materna. Por eso, es fundamental conocer los factores que conducen a dicha interrupción en diferentes contextos. Este estudio tuvo como objetivo comprender la experiencia con respecto a la lactancia materna y su interrupción temprana entre nutrices en un servicio de atención básica de salud de un municipio de Bahía (Brasil). Esta es una investigación cualitativa, descriptiva y analítica, realizada a través de entrevistas semiestructuradas, aplicadas a nutrices que interrumpieron tempranamente la lactancia materna de sus hijos. En total, se entrevistó a catorce madres lactantes de entre 19 y 40 años. Las entrevistas fueron grabadas y transcritas para el posterior análisis de los contenidos del discurso y la organización en categorías analíticas. Las principales explicaciones de la descontinuación se relacionaron con los mitos de “leche débil”, “poca leche” y “se secó la leche”, las complicaciones de los senos, el regreso de la mujer al trabajo y los estudios, así como las experiencias de madres lactantes durante el curso de la lactancia materna. Por lo tanto, parece que el acto de amamantar implica una serie de factores que deben abordarse, superando la idea de la lactancia materna completa y sin obstáculos, para que estas mujeres puedan reconocer los desafíos, pero especialmente los logros de la práctica de la lactancia materna. La lactancia materna involucra problemas complejos, que despiertan en las mujeres sentimientos positivos y negativos que se adoptan con la opción de mantener la lactancia materna exclusiva. Así, es importante que los profesionales de la salud entiendan el contexto social y cultural en el que se insertan las mujeres, ubicándolas como protagonistas en este proceso.
Palabras clave: Lactancia materna. Investigación cualitativa. Nutrición infantil.
O crescimento e desenvolvimento pleno de uma criança é potencializado por meio de uma alimentação adequada, constituída apenas de leite materno nos primeiros seis meses1, sem adição de nenhum tipo de alimento líquido ou sólido, denominado amamentação exclusiva2. Sua oferta apresenta-se como primeira estratégia de segurança alimentar e nutricional na infância, com vistas à garantia dos direitos humanos à saúde e à alimentação.
O leite materno é imprescindível por ser um alimento completo, que reúne as características nutricionais ideais3, composto de proteínas, lipídios, carboidratos, vitaminas e minerais adequados às condições metabólicas e fisiológicas da criança, com benefícios imunológicos importantes na prevenção de infecções e alergias, sendo consideravelmente eficaz para a redução da morbimortalidade infantil, menor índice de diarreia e de doenças respiratórias2. A prática exclusiva do aleitamento materno contribui também para a saúde da nutriz, por diminuir o risco de câncer de mama e ovários, auxiliar na involução uterina, retardar a volta à fertilidade e redução da retenção ponderal após o parto, além do impacto positivo na saúde emocional mãe-criança por garantir maior vínculo e afeto entre o binômio4
No entanto, apesar do reconhecimento e da divulgação dos benefícios nutricionais, imunológicos e afetivos do aleitamento materno, e dos arcabouços legais, essa prática ainda encontrase aquém do preconizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e Ministério da Saúde, que recomendam que a amamentação seja realizada de forma exclusiva nos seis primeiros meses, e perpetuada por dois anos ou mais, como um complemento nutricional, haja vista as influências que a nutriz pode sofrer no percurso da amamentação5. É entendida como interrupção precoce do aleitamento materno exclusivo (AME) a introdução de outros alimentos antes de a criança ter completado seis meses de vida, independentemente dos motivos que levaram a esse ato6
De acordo com o Enani (Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil)7, a prevalência do AME em menores de seis meses foi de 45,7% no Brasil, sendo o Nordeste a região com menor prevalência dessa prática (38%). Dados provenientes da “Chamada neonatal”, realizada na Amazônia Legal e no Nordeste8, demonstraram que ainda há uma prevalência de AME que não ultrapassa 50,0%, ficando com uma média de 40,4% nas regiões investigadas, mas com pequena melhora na região Nordeste (38,6%), desde a pesquisa anterior.
No estado da Bahia, os dados sobre desmame também são elevados. Em estudo realizado em municípios do interior da Bahia foram identificadas taxas acima de 50% para interrupção do AME9,10 Vieira et al.9, em estudo no município de Feira de Santana, destacaram que a prevalência de AME foi 38,5%, em menores de seis meses. Em outra pesquisa, realizada no município de Santo Antônio de Jesus, Marques10 observou que a prevalência do AME foi de 39,6% na amostra estudada, corroborando a frequência encontrada no Enani.
O ato de amamentar é algo complexo, cujo curso é influenciado por uma série de fatores correlacionados, que podem favorecer a manutenção ou não do aleitamento e dizem respeito às condições e contexto de vida da genitora, como a interação com a família e com o meio social11. Mais especificamente, alguns autores citam a complexidade dos estilos de vida
modernos; o retorno ao trabalho por parte da mulher; a ausência de direitos trabalhistas, com mulheres no mercado informal2,12,13; a pandemia da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Aids); as alterações mamárias (mastite, trauma mamilar, ingurgitamento mamário, abscessos, entre outras); agravos que acometem o recém-nascido (fenilcetonúria, galactosemia); os mitos implantados (“pouco leite”, “leite fraco”); as repercussões estéticas femininas (flacidez e “queda” das mamas) e as influências externas da própria família, amigos e vizinhos12.
Além desses fatores, as percepções, experiências e dificuldades vivenciadas pelas mulheres durante o curso da amamentação levam-nas a avaliações constantes sobre esse ato. Para Vilas Boas14:4, a amamentação deve envolver “[…] vivências pessoais, sociais e educativas facilitadoras da amamentação e requer apoio familiar, confiança da mãe na sua capacidade para amamentar e para cuidar do filho”. Dessa forma, os fatores sociais e emocionais podem também desempenhar um papel decisivo para a interrupção do aleitamento materno.
Diante disso, a prática da amamentação ultrapassa os fatores naturais e envolve outros determinantes do contexto social, familiar, de autopercepção das mulheres, visto que a amamentação não é totalmente instintiva no ser humano, devendo ser aprendida para ser mantida com êxito15 Em meio às contradições instaladas entre os benefícios do AME, apresentadas de forma contundente pela comunidade científica, e a sua baixa prevalência, compreender os fatores que levam a tal interrupção em diferentes contextos é fundamental para uma intervenção contextualizada na realidade local.
Nessa perspectiva, o objetivo deste estudo foi compreender a vivência de aleitamento materno e sua interrupção precoce entre nutrizes em um serviço de atenção básica à saúde de um município na Bahia.
Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, descritiva e analítica, que visa permitir compreender profundamente a temática estudada. Para Minayo 16:21, a pesquisa qualitativa “se preocupa, nas Ciências Sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado”, ou seja, se baseia em significados oriundos das crenças, valores e atitudes correspondentes ao espaço profundo das relações. Portanto, foi a partir dessa perspectiva que foram interpretados os aspectos envoltos na amamentação pelas nutrizes que integraram este estudo.
O estudo ocorreu em um município localizado no Recôncavo da Bahia, distante cerca de 146 km da capital Salvador, com uma população estimada de 64.932 habitantes17, em uma unidade de saúde da família (USF) da zona urbana, escolhida por conveniência.
Foram convidadas a participar do estudo as nutrizes que atendessem aos seguintes critérios de inclusão: idade superior ou igual a 19 anos, residentes e domiciliares no município de estudo, adscritas na USF da zona urbana, que realizaram o pré-natal na unidade e que interromperam precocemente o aleitamento materno dos filhos. Desse modo, pretendia-se alcançar a compreensão dos elementos relacionados a tal escolha, entre aquelas identificadas inicialmente pela equipe da unidade, seguindo-se o método Snowball Sampling (Bola de neve) para identificação, no qual as primeiras nutrizes indicavam as demais para participar do estudo. Todas as participantes concordaram em participar por meio do termo de consentimento livre e esclarecido.
Por se tratar de um estudo de natureza qualitativa, foram considerados o aprofundamento e a abrangência da compreensão no discurso das nutrizes, entendendo que a delimitação do número de participantes foi aquela capaz de refletir a totalidade das dimensões estudadas, obtendo assim como critério para definição do número de participantes a saturação dos discursos do sujeito em estudo18 Assim, com base nesse critério, foram entrevistadas 14 nutrizes, número em que se identificou o ponto de saturação nas falas das entrevistadas.
A coleta de dados foi realizada nos meses de setembro e outubro de 2018, após treinamento das pesquisadoras, por meio de entrevista semiestruturada, sendo aplicadas à população-alvo do estudo na própria USF, e, quando necessário, em visitas domiciliares, em horários previamente agendados com as nutrizes, com duração média de uma hora por entrevista, composta inicialmente de dados sociodemográficos e econômicos, como idade da nutriz e da criança, renda, estado civil e escolaridade, e abordando as seguintes questões norteadoras: (1) Fale sobre o aleitamento materno; (2) Comente sobre a sua experiência com a amamentação; (3) Fale sobre os seus sentimentos ao amamentar; (4) Fale sobre as suas dificuldades e facilidades com a amamentação; (5) O que significa o leite materno para você?; (6) Por que escolheu não amamentar?. As entrevistas foram gravadas em áudio para posterior transcrição de forma integral e análise quanto aos seus conteúdos temáticos, e enumeradas conforme ordem temporal (E1, E2, E3… E14), para preservar o anonimato.
Após aplicação das entrevistas, transcrição e leitura dos relatos, emergiram as categorias temáticas que nortearam o estudo. A análise dos dados foi pautada na análise temática de conteúdo, que, de acordo com Minayo18:316, baseada em Bardin (1979), consiste “em descobrir o núcleo de sentido que compõem uma comunicação, cuja presença ou frequência signifiquem alguma coisa para o objeto analítico visado”, por meio de três etapas: pré-análise, com a primeira leitura das entrevistas transcritas e identificação de temáticas comuns
surgidas dos conteúdos das falas; exploração do material, com releitura e seleção de temáticas que apareceram mais fortemente relatadas pelas nutrizes em suas falas, e tratamento dos resultados obtidos, com análise e discussão das categorias selecionadas, a partir dos conjuntos dos conteúdos identificados.
A pesquisa respeitou os princípios éticos no desenvolvimento de uma atividade com seres humanos, segundo as Diretrizes e Normas das Resoluções nº 466/2012 e 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde19,20, sendo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade Maria Milza, registrado sob o CAAE n. 95140918.3.0000.5025.
Foram entrevistadas 14 nutrizes com idade entre 19 e 40 anos, destas, 11 (78,57%) estavam vivenciando a prática da amamentação pela primeira vez. Com relação ao estado civil, sete (50%) eram solteiras, cinco (35,7%) eram casadas e duas (14,28%) mantinham união estável. Quanto à escolaridade, duas (14,28%) tinham ensino fundamental incompleto, duas (14,28%) concluíram o fundamental, duas (14,28%) tinham ensino médio incompleto, quatro (28,57%) concluíram o ensino médio, duas (14,28%) tinham ensino superior incompleto, uma (7,14%) era formada no ensino superior e uma (7,14%) tinha pós-graduação. Com relação à renda familiar, duas (14,28%) viviam com renda familiar menor que um salário mínimo, três (21,42%) viviam com renda familiar de um salário mínimo, sete (50%) viviam com renda familiar entre um e dois salários mínimos e duas (28,57%) viviam sem renda. No que se refere à idade dos lactentes, variou de três a 11 meses.
A pesquisa possibilitou a reflexão sobre os diferentes aspectos e fatores que possam interferir na manutenção do aleitamento materno exclusivo. A análise dos depoimentos permitiu identificar as seguintes categorias: (1) experiências e vivências das nutrizes na amamentação e (2) Compreensão das nutrizes sobre o aleitamento materno.
A categoria “Experiências e vivências das nutrizes na amamentação” versa sobre o sofrimento e o prazer em amamentar, as percepções das nutrizes sobre o processo da amamentação, as limitações, desafios e dificuldades enfrentadas e o apoio necessário para a perpetuação da prática.
Os benefícios da amamentação e os elementos associados à interrupção do aleitamento materno, que vão de condições objetivas a fatores subjetivos e culturais sobre o amamentar, que podem implicar tanto positiva quanto negativamente na sua adesão, foram categorizados como “Compreensão das nutrizes sobre o aleitamento materno”.
“Lágrimas descendo e eu amamentando” – Entre o sofrimento e o prazer em amamentar
A análise das falas das nutrizes sobre a sua prática com a amamentação permitiu observar um sentimento de prazer e valorização do ato de amamentar e uma complexa trama de sofrimento e contentamento, marcada por experiência um tanto dolorosa, porém permeada pela satisfação de amamentar a criança, conforme relatos:
“Gente […] é totalmente diferente do que o povo fala, a expectativa da realidade, gente […] é muito, muito doloroso, foi muito sofrido, mas graças a Deus tá aí, tá mamando direitinho.” (E2).
“É uma coisa assim que a gente sente, que a gente nem sabe dizer […] a criança assim mamando, mesmo a gente chorando ali [risos], com o peito sangrando, mas […] tinha que dar, gostava de ver ela mamando.” (E12).
“[…] feriu, né? mas, mesmo ferido, eu dava, chorando ali, as lágrimas descendo e eu amamentando [risos] […] é uma sensação tão maravilhosa, é sensação única, na verdade, né?” (E13).
Dessa forma, observa-se que a amamentação, para as nutrizes, é mediada por conflitos, expressos sobretudo pela presença da dor, causados por intercorrências mamárias, principalmente nos primeiros dias do processo de amamentação, mas, também, pela satisfação, que se contrapõe à dor, frente ao bem-estar ocasionado.
Para Nakano21, amamentar é a “emblemática de ser uma boa mãe” e ainda é a fase em que se estabelecem e fortalecem os vínculos afetivos entre a mulher e o seu filho, por isso “o objeto de seu desejo é corresponder às necessidades do filho, priorizando o seu bemestar, em detrimento do próprio”. Esses aspectos são reforçados nas seguintes falas:
“Você ver o quanto você é capaz de fazer por alguém, o quanto é capaz de você amar, porque, mesmo com todas as dores, o desespero era grande, mas, quando eu via ele se alimentando, que ele se saciava, que respirava fundo e chega dormia de boquinha aberta, ah […] nada paga esse momento, então isso para mim é um milagre.” (E1).
“Eu chorava bastante quando dava mama, aguentar […] gostava de dar mama a ele, porque ele é carinhoso, aí quando ele tava mamando, aí ele ficava mamando e brincando com o bico do outro seio [risos], aaah, era tão divertido, era um momento nosso.” (E3).
Logo, as mulheres, ao descreverem o processo de amamentação, revelam em suas falas que, mesmo passando por momentos de desconforto e sofrimento no período da lactação, a amamentação se mostra como um ato de construção de vínculo afetivo. Esse sentimento, para algumas delas, ultrapassa as sensações físicas.
Para compreender essa relação, Lima et al.22:4 afirmam que “amamentar é um ato que transcende questões biológicas. Existe um sujeito encarnado nesse processo, um ser que olha, exprime sentimentos, que interage consigo, com os outros e o ambiente”. Assim, as dificuldades vivenciadas por muitas mulheres durante o processo de amamentação podem ser compensadas pelo sentimento de vínculo afetivo que esse momento proporciona para ambas, bem como pode estar associado ao reconhecimento dos benefícios que o leite materno proporciona para a criança, sendo estes aspectos superiores aos desconfortos, conforme relatos, logo, esse prazer em amamentar pode se constituir como um importante aliado para a perpetuação do aleitamento materno21,23
Embora a amamentação seja comumente descrita como um ato natural e simples, na vivência, as dificuldades e os desafios são constantes nos relatos de muitas nutrizes, e colocam em questão capacidade em poder alimentar seu(sua) filho(a), garantir sua sobrevivência e seu bem-estar, especialmente quando se trata de mulheres primíparas, por não possuírem experiência prévia com amamentação. A tudo isso soma-se inúmeros tabus que podem potencializar a sensação de incapacidade.
A análise nas falas das nutrizes permitiu revelar que o medo e/ou a sensação de incapacidade se fizeram presente no processo de amamentação:
“Porque eu achava que eu não ia conseguir […] Eu tava tão desesperada, eu tava me achando tão incapaz de não conseguir cuidar de uma criança […].” (E1).
“Eu não tava conseguindo dar mama a ele […] eu fui, mandei comprar o leite e abri a boca pra chorar.” (E2).
“Senti medo dele não pegar, de não suprir as necessidades dele, sei lá […] Me sentia incapaz e insuficiente para atender a necessidade de meu filho.” (E5).
As falas, por si só, revelam a insegurança sentida pelas mulheres face à amamentação, especialmente, de não conseguir atender as necessidades do(a) próprio(a) filho(a).
Após o período gestacional, a amamentação é considerada um momento delicado e importante para a saúde e desenvolvimento da criança, como também de construção e estabelecimento de vínculo entre a mulher e o(a) filho(a). Contudo, a amamentação requer da mulher esforço físico e estabilidade emocional, em meio a um cenário de novas demandas, que pode caracterizar o momento como desafiador, principalmente para as primíparas22.
A partir daí, podem surgir momentos de dúvidas e questionamentos sobre a capacidade de amamentar, desencadeados tanto pelo excessivo choro da criança, colocando em questão a qualidade e a produção do leite materno, como pelas intercorrências mamilares, por causar dor e desconforto, em contraste à imagem da amamentação fácil e feliz apresentada pelas mídias, que podem suscitar a sensação de incapacidade, insegurança, impotência e medo.
Para Capucho et al.24:112, fazer a mulher “acreditar na capacidade de amamentar e se sentir segura é fundamental nesse processo”, ademais “é preciso que a mulher confie na sua capacidade de ressignificar seus desejos e suas vontades para que possa superar essas barreiras”.
Dessa forma, percebe-se que a maternidade traz consigo uma diversidade de emoções e sentimentos, colocando muitas vezes em jogo a capacidade de amamentar e de atender às necessidades da criança, em vista disso, o apoio, advindo da própria USF e de familiares, que a mulher receberá durante esse processo poderá ser fundamental para prevalência e continuação da amamentação.
“Bom para emagrecer, né?” – percepções sobre os benefícios da amamentação para as mulheres
Os benefícios do aleitamento materno para a criança têm se consolidado a cada ano, e o governo brasileiro tem incentivado e buscado a sua implantação por meio de ações e políticas públicas, de modo a evitar a interrupção do aleitamento materno, contudo, a importância da prática da amamentação para saúde da mulher nem sempre é propagada e reforçada 25
Perante os relatos, percebe-se que as nutrizes deste estudo têm uma visão ainda restrita sobre a gama de benefícios da amamentação para a saúde da mulher, em que a perda de peso aparece como “atração principal” nos discursos, provavelmente uma estratégia utilizada para “convencer” as mulheres durante a gestação, nos serviços de saúde:
“Amamentação ajuda a gente a emagrecer [risos], pra que coisa melhor?” (E1).
“Dizem que a gente perde peso com mais facilidade.” (E2).
“O pessoal fala assim, no caso que quando tá amamentando que não engravida, né? Mas eu não acredito nisso, não.” (E4).
“É bom para a recuperação do pós-parto mais rápido, é […] ajuda a emagrecer, ajuda a não ter infecção depois do pós-parto, só isso.” (E5).
“As enfermeiras falam que a gente fica com o corpinho mais em forma, né? que não vai ficar gorda.” (E7).
“Eu perdi tanta gordurinha na gravidez, então ajuda a perder peso, né?” (E8).
“Não menstrua, né? quando tá amamentando, perde peso também.” (E13).
Diante do exposto, observa-se que o benefício na visão das nutrizes está diretamente relacionado à perda de peso e que os outros benefícios provenientes da amamentação foram pouco citados.
Sabe-se que o aleitamento materno se constitui como importante estratégia de promoção da saúde e prevenção de agravos, e suas vantagens não se restringem apenas à criança, mas se estendem também à mulher. Entre os benefícios para a mulher, destacam-se a maior proteção contra o câncer de mama, de ovário e de útero; auxilia na involução uterina de forma rápida; atua como método anticoncepcional natural; proporciona a perda de peso; oferece economia familiar; além de promover um maior vínculo afetivo entre a mulher e a criança2,4 Contudo, apesar do reconhecimento desses benefícios, pode-se pressupor que as informações para a saúde da mulher são pouco discutidas e/ou valorizadas pelos profissionais de saúde durante o pré-natal, direcionando-se apenas aos benefícios inerentes à criança, e esse desconhecimento pode relacionar-se, junto a outros, à interrupção do aleitamento materno.
“Na verdade, não se trata de escolha, é mais necessidade” – Elementos associados à interrupção do aleitamento materno
Apesar de toda divulgação e conhecimento das vantagens e benefícios da amamentação para a criança, a mulher, a família, o governo e a sociedade em geral, a interrupção do aleitamento materno é historicamente presente na sociedade, e todas essas vantagens descobertas pela comunidade científica não têm sido suficientes para que a interrupção do aleitamento materno seja revertida. A análise compreensiva nos discursos das nutrizes permitiu identificar em suas falas elementos que se constituem como fatores decisivos para a interrupção do aleitamento materno exclusivo antes do sexto mês de vida da criança.
Entre os aspectos relatados, um elemento bastante mencionado e ainda muito presente na concepção das nutrizes são os mitos sobre a qualidade do leite materno, como o do “leite fraco”, do “pouco leite” e o “leite secou”, identificados nas falas a seguir:
“O meu leite secou […] e o meu leite também não sustentava […] era muito ralo, então não sustentava, toda hora ele tava com fome, chorava muito.” (E3).
“[…] mas o leite materno mesmo não sustentou, não. Ele chorava muito, muito, muito, muito mesmo […] eu sentia que não tava sustentando.” (E4).
“[…] o meu leite ficou fraco, ela chorava, chorava demais, com quinze dias eu tive que dar outro tipo de leite a ela […] o meu não tava sustentando ela […] o leite tava muito fraco, ela chorava muito, acabava de mamar e ali ela chorava, porque não tava sustentando ela […] meu leite não era aquele leite forte, meu peito era parecendo aquela água […].” (E12).
“[…] sentia fome, aí não sustentava o leite.” (E14).
Constata-se, então, na perspectiva das mulheres entrevistadas, que há uma relação entre a “qualidade” do leite materno, a fome e o choro da criança, levando à hipótese de que o leite não está atendendo às necessidades, seja por insuficiência na produção e quantidade do leite, seja pela qualidade.
A figura do “leite fraco” surgiu no século XIX, a partir do movimento higienista. Os higienistas se apropriavam dos discursos científicos para impor regras sobre o comportamento materno, de forma a culpabilizar e responsabilizar a mulher por todo insucesso com a amamentação. Como defesa em tal imposição para amamentar, grupos de mulheres que não conseguiram exercer essa prática utilizavam como argumentos o pouco leite produzido, o leite estar fraco e secar com facilidade. Frente a todo esse insucesso, os higienistas não detinham de respostas nem de conhecimento capazes de solucionar e reverter essa situação, logo, reproduziram na cultura brasileira a figura do leite fraco, que se faz presente nos dias atuais, assumindo em muitos momentos o status de ator social, responsável pela interrupção do aleitamento materno26
Dessa forma, a falta de esclarecimento oportuno sobre as características nutricionais e o aspecto do leite materno pode levar a nutriz a incertezas e dúvidas, colocando em questão a sua capacidade em produzir leite de qualidade para a criança, podendo desmotivá-la, colocando a necessidade de introduzir outros alimentos, como os compostos lácteos, engrossantes, tornando-o mais “forte”.
Já a aparência e a consistência do leite materno foram instituídas culturalmente, com base na comparação de outros leites, como o leite de vaca, e da referência estabelecida do que seria um leite de qualidade, ou seja, um leite encorpado, de coloração mais intensa, variando entre o branco opaco e o amarelo26,27. Dessa forma, a ideia do “leite fraco” e do “pouco leite” é culturalmente sustentada, tanto pela aparência opaca que o leite materno possui, que é uma característica considerada normal, como pelo choro associado à fome, e de insuficiência na produção do próprio leite, caracterizado como ralo e fraco.
Outro fator bastante decisivo para prosseguir ou não com a amamentação são as intercorrências mamárias, presença de nódulos e fissuras mamilares:
“[…] por causa do bico do peito, tinha aquele processo, feriu, ficou carne viva, sangrava, saía sangue na boca dela, mas, mesmo assim, continuava amamentando.” (E4).
“Meu bico do peito era invertido, ela não tinha uma boa sucção […] e eu tive mastite, primeira em uma mama e depois na outra, tive febre e muita dor.” (E9).
“[…] porque também eu tenho um nódulo no peito e também não podia dar nesse peito que tem o nódulo, eu fui recomendada a não dar, só tava dando no que não tem […] o meu peito rachou, feriu, quase o bico tava até caindo […] eu chorava, era muito dolorido.” (E12).
“[…] meu bico do seio era para dentro, então feriu, aí […] ele com menos de dois meses, eu tive que introduzir outro leite.” (E13).
Diante do exposto, os discursos revelam a falta ou insuficiência de informações sobre seio, pega e capacidade de amamentar, como também as dificuldades enfrentadas pelas nutrizes frente às intercorrências mamárias, decorrente do próprio processo de lactação, causando dor extrema nos mamilos, ferimentos, incômodos e desconfortos, podendo interferir de forma negativa no processo de amamentação.
Inúmeras campanhas promovem e incentivam o aleitamento materno com base nas suas vantagens e benefícios tanto para a mulher como para a criança, caracterizando a amamentação como um ato natural, simples e instintivo, no entanto, algumas informações pertinentes para a mulher, como os desafios físicos previstos pelo próprio processo de amamentação, não costumam ser abordadas ou enfatizadas por elas28
Ao iniciar o processo da amamentação, muitas mulheres sentem dores discretas ou desconforto nas primeiras mamadas, o que pode ser considerado algo fisiológico, porém,
quando os mamilos ficam muito dolorosos, machucados e lesionados, pode se caracterizar como um trauma mamilar29. Os traumas mamilares são bastante frequentes entre as puérperas, sendo ocasionada principalmente pelo posicionamento e pega inadequados, como também pode estar associada à remoção inadequada da criança do seio materno29,30
Considerando esses fatores, os profissionais de saúde assumem um papel relevante na prevenção desses problemas, visto que podem atuar com ações e medidas profiláticas, não só no pré-natal, mas também no pós-parto e durante o puerpério, realizando manejo clínico da amamentação, orientando, apoiando e acima de tudo acompanhando as nutrizes durante esse processo, de modo a evitar esse desgaste no processo de amamentar.
Outra questão, bastante frequente nas falas das nutrizes e que historicamente é colocada como elemento impeditivo ou que gera impasses para a prática da amamentação, é o retorno da mulher ao trabalho fora de casa:
“[…] eu voltei a trabalhar […] eu não posso ficar em casa, só amamentando… né, então porque se eu pudesse ficar dando até os seis meses só a mama, eu taria dando só a mama, mas não é possível, como a de muitas mães.” (E2).
“[…] porque eu tinha que trabalhar e não podia, como é que eu ia sair e ela mamando?” (E3).
“[…] aí por ter que trabalhar eu comecei a introduzir outras coisas […] se não fosse o trabalho ela tava só no peito, eu não dava outra coisa, não.” (E6).
“[…] eu ter que voltar a trabalhar aos quatro meses […] então com quinze dias antes de eu voltar a trabalhar eu dei o leite a ele, é […] porque pra mim seria meio difícil vir até em casa, para poder dar a amamentação, tudo direitinho a ele […] pra mim foi sofredor, assim que voltei a trabalhar ele rejeitou a mama.” (E14).
Diante dos relatos apresentados, nota-se certo desejo nas mulheres em continuar com a amamentação dos filhos, porém, a necessidade de retornar ao trabalho fora de casa as impedem de concretizar esse ato, fazendo com que interrompa o aleitamento materno, habituando a criança a outros alimentos, principalmente os compostos lácteos, de modo a sanar a sua ausência no ambiente doméstico.
Ao longo da década de 1980, houve um aumento significativo da presença feminina no mercado de trabalho, dessa forma, a mulher socialmente vista apenas como um sujeito maternal e voltada aos cuidados domésticos passa a se inserir nesse espaço, antes de
domínio masculino. A assunção do novo papel da mulher na sociedade, no entanto, não a desvincula das demais funções já impostas historicamente, gerando em muitos momentos conflito entre os papéis de mulher mãe, dona de casa e mulher trabalhadora, bem como a sobrecarga de tarefas26.
Diante disso, a Constituição Federal de 1988, que garante o direito à mulher à licença-maternidade de 120 dias foi criada com o objetivo de possibilitar à mulher um maior convívio com seu filho, dedicando-se de forma integral aos cuidados da criança, podendo exercer a amamentação por livre demanda, bem como dispõe à mulher o direito a alguns auxílios e benefícios como garantia a creche, e pausas para a amamentação31,32,33. Entretanto, apesar da importância e da existência desse dispositivo legal, sua implementação ainda é falha e incompleta, na medida em que não garante à mulher a licença maternidade pelo período de seis meses, como recomenda a OMS e o Ministério da Saúde Essa situação mostra-se ainda mais agravante para mulheres que trabalham sem o amparo da legislação trabalhista, cuja tendência para a interrupção ou até mesmo a não realização do aleitamento materno aumenta, considerando a necessidade de retorno prévio as atividades. Segundo Nakano e Mamede13, as leis criadas para proteção e preservação do ato de amamentar têm por finalidade resguardar a força de trabalho, estando longe de atender os requisitos necessários satisfatórios ao processo de amamentação.
Ademais, outro fator presente nas falas das pesquisadas como um empecilho para a continuação da amamentação e que merece destaque foi o retorno aos estudos:
“Na verdade, não se trata de escolha, é mais necessidade, com quatro meses dele tive que voltar à rotina de faculdade […] eu tive que brigar com a instituição para poder ter a licença […] porque eles disseram que lá não tem uma lei ainda, um decreto, pra poder […] agora que criaram, aí eu tive que agir, forçar eles, entendeu? Pra poder mandar minhas atividades, e era uma coisa minha por direito […] e só me enviaram na última semana do semestre.” (E5).
“[…] porque eu tinha que voltar a estudar, aí ele tinha que comer alguma coisa.” (E9).
Dessa forma, nota-se que não só o trabalho é colocado como fator para a interrupção do aleitamento materno, mas também a necessidade em retomar atividades acadêmicas.
A partir da Lei nº 6202/1975, a mulher estudante tem o direito ao afastamento a partir do oitavo mês da gestação, durante três meses, por meio do regime de exercícios domiciliares instituído pelo Decreto-Lei nº 1.044/1969, podendo ser estendido por mais dois
meses caso seja necessário34. Todavia, assim como para mulheres trabalhadoras, o amparo para mulheres que estudam e tentam conciliar a maternidade apresenta lacunas, pois não garante também o período de seis meses para o exercício exclusivo da amamentação. A possibilidade de manutenção do uso de leite materno, congelado, pelos cuidadores das crianças, ainda aparece como prática pouco difundida socialmente e, comumente, a oferta de outros alimentos é a estratégia mais utilizada no período de ausência da mãe.
À vista disso, identifica-se que as leis implementadas tanto para a mulher trabalhadora como para a estudante apresentam falhas e insuficiências. As condições sociais, a necessidade de retornar ao trabalho e/ou estudo obrigam a mulher a interromper o aleitamento materno. Assim, as leis e as políticas públicas que tenham como objetivo beneficiar e estimular a mulher a praticar a amamentação não devem só buscar proteger mulheres trabalhadoras e estudantes perante o mercado de trabalho e a futura carreira profissional, mas também criar condições e mecanismos que viabilizem a realização da amamentação exclusiva até o sexto mês.
Este estudo permitiu observar que o ato de amamentar envolve questões complexas, despertando nas mulheres sentimentos tanto positivos quanto negativos e que os fatores relacionados à interrupção são muitos e complexos, perpassando fatores sociais, econômicos e culturais.
Além disso, foi possível identificar que a pesquisa extrapola os fatores relacionados à adesão ou não ao AME e apresenta elementos que carecem de maior aprofundamento, como a relação familiar e rede de apoio, bem como políticas públicas que garantam condições de manutenção da amamentação, que não foram objetivos desta investigação, mas abrem um leque de possibilidades para aprofundamentos em outros estudos.
Dessa forma, os profissionais de saúde assumem papel relevante quando o tema é amamentação. Eles precisam estar preparados para conhecer e compreender o contexto social e cultural no qual a mulher está inserida, estando sensíveis para identificar quais as práticas podem estimular ou não o aleitamento materno exclusivo, colocando e reconhecendo a mulher como a protagonista desse processo, considerando toda a sua multidimensionalidade, devendo apoiar, orientar, incentivar, fortalecer sua autoconfiança durante o pré-natal e principalmente no puerpério, para que a amamentação seja conduzida não somente com êxito prescritivo, mas com olhar humanizado para a mulher.
Espera-se que os resultados obtidos com este estudo contribuam para compreensão do fenômeno, por permitir um maior embasamento e compreensão sobre as questões que
envolvem o ato de amamentar, e, dessa forma, possam subsidiar ações que estimulem a prática do aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de vida da criança, considerando o AME como estratégia principal de garantia do direito humano à alimentação adequada e saudável, constitucionalmente garantida
1. Concepção do projeto, análise e interpretação dos dados: Sthefane Pires dos Santos, Lana Mércia Santiago de Souza e Jerusa da Mota Santana.
2. Redação do artigo e revisão crítica relevante do conteúdo intelectual: Sthefane Pires dos Santos, Lana Mércia Santiago de Souza e Jerusa da Mota Santana.
3. Revisão e/ou aprovação final da versão a ser publicada: Sthefane Pires dos Santos, Lana Mércia Santiago de Souza e Jerusa da Mota Santana.
4. Ser responsável por todos os aspectos do trabalho na garantia da exatidão e integridade de qualquer parte da obra: Sthefane Pires dos Santos, Lana Mércia Santiago de Souza e Jerusa da Mota Santana.
1. Smaniotto J, Mattos KM. Aleitamento materno: sua representatividade para mulheres. Disc Scientia. 2011;12(1):71-80.
2. Brasil. Ministério da Saúde. Saúde da criança: aleitamento materno e alimentação complementar. 2. Ed. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2015.
3. Maciel APPM, Gondim APS, Silva AMVS, Barros FC, Barbosa GL, Albuquerque KC, et al. Conhecimento de gestantes e lactantes sobre aleitamento materno exclusivo. Rev Bras Promoc Saúde. 2013;26(3):311-7.
4. Brasil. Ministério da Saúde. Promovendo o aleitamento materno. 2a ed. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2007.
5. World Health Organization. Report of the expert consultation on the optimal duration of exclusive breastfeeding. Geneva: WHO; 2001.
6. Parizotto J, Zorzi NT. Aleitamento materno: fatores que levam ao desmame precoce no município de Passo Fundo, RS. Mundo Saúde. 2008;32(4):466-74.
7. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil – Enani-2019: Resultados preliminares – Indicadores de aleitamento materno no Brasil. Rio de Janeiro (RJ): UFRJ; 2020.
8. Brasil. Ministério da Saúde. Avaliação da atenção ao pré-natal, ao parto e aos menores de um ano na Amazônia Legal e no Nordeste, Brasil, 2010. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2013.
9. Vieira GO, Almeida, JAG, Silva LR, Cabral VA, Netto PVS. Fatores associados ao aleitamento materno e desmame em Feira de Santana, Bahia. Rev Bras Saúde Matern Infantil. 2004;4(2):143-50.
10. Marques MS. A prática do aleitamento materno exclusivo e fatores associados a sua interrupção. Feira de Santana (BA). Dissertação [Mestrado em Saúde Coletiva] – Universidade Estadual de Feira de Santana; 2014.
11. Ichisato SMT, Shimo AKK. Revisitando o desmame precoce através de recortes da história. Rev Latino-Am Enfermagem. 2002;10(4):578-85.
12. Barreira SMC, Machado MFAS. Amamentação: compreendendo a influência do familiar. Acta Scientiarum. Acta Sci Health Sci. 2004;26(1):11-20.
13. Nakano AMS, Mamede MV. A mulher e o direito de amamentar: as condições sociais para o exercício desta função. Rev Min Enf. 2000;4(1/2):22-7.
14. Vilas Boas, JMO. Educar para cuidar: O papel do enfermeiro de família na promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. Braga. Relatório de Estágio [Mestrado em Educação] – Universidade do Minho; 2013.
15. Araújo OD, Cunha AL, Lustosa LR, Nery IS, Mendonça RCM, Campelo SMA. Aleitamento materno: fatores que levam ao desmame precoce. Rev Bras Enferm. 2008;61(4):488-92.
16. Minayo MCS, organizadores. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis (RJ): Vozes; 2001.
17. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Bahia, Cruz das Almas [Internet]. 2017 [citado em 2022 abr 28]. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/
18. Minayo MCS, organizadores. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 13. ed. São Paulo (SP): Hucitec; 2013.
19. Brasil. Ministério da Saúde. Resolução n. 466, de 12 de dezembro de 2012. Brasília (DF); 2012.
20. Brasil. Ministério da Saúde. Resolução n. 510, de 7 de abril de 2016. Brasília (DF); 2016.
21. Nakano AMS. As vivências da amamentação para um grupo de mulheres: nos limites de ser “o corpo para o filho” e de ser “o corpo para si”. Cad Saúde Pública. 2003;19(Sup.2):S355-S63.
22. Lima SP, Santos EKA, Erdmann AL, Souza AIJ. Desvelando o significado da experiência vivida para o ser-mulher na amamentação com complicações puerperais. Texto Contexto Enferm. 2018;27(1):1-8.
23. Lima AS, Souza SNDH. Percepção materna sobre o apoio recebido para a amamentação: o olhar na perspectiva da vulnerabilidade programática. Ciênc Biol Saúde. 2013;34(1):73-90.
24. Capucho LB, Forechi L, Lima RCD, Massaroni L, Primo CC. Fatores que interferem na amamentação exclusiva. Rev Bras Pesq Saúde. 2017;19(1):108-13.
25. Rea MF. Reflexões sobre a amamentação no Brasil: de como passamos a 10 meses de duração. Cad Saúde Pública. 2003;19(Sup1):S37-S45.
26. Almeida, JAG, Novak FR. Amamentação: um híbrido natureza-cultura. J Pediatr. 2004;80(Sup.5):s119-s25.
27. Gonçalves AC, Bonilha ALL. Crenças e práticas da nutriz e seus familiares no aleitamento materno. Rev Gaúcha Enferm. 2005;26(3):333-44.
28. Amaral LJX, Sales SS, Carvalho DPSRP, Cruz GKP, Azevedo IC, Ferreira Júnior MA. Fatores que influenciam na interrupção do aleitamento materno exclusivo em nutrizes. Rev Gaúcha Enferm. 2015;36(esp):127-34.
29. Giugliani ERJ. Problemas comuns na lactação e seu manejo. J Pediatr. 2004; 80(Sup.5):S147-S54.
30. Queluz MC, Pereira MJB, Santos CB, Leite AM, Ricco RG. Prevalência e determinantes do aleitamento materno exclusivo no município de Serrana, São Paulo, Brasil. Rev Esc Enferm USP. 2012;46(3):537-43.
31. Brasil. Ministério da Saúde. Cartilha para a mãe trabalhadora que amamenta. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2010.
32. Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília (DF): Senado Federal; 1988.
33. Brasileiro AA, Ambrosano GMB, Marba STM, Possobon RF. A amamentação entre filhos de mulheres trabalhadoras. Rev Saúde Pública. 2012;46(4):642-8.
34. Brasil. Lei n. 6.202, de 17 de abril de 1975. Atribui à estudante em estado de gestação o regime de exercícios domiciliares instituído pelo Decreto-lei nº 1.044, de 1969, e dá outras providências. Brasília (DF); 1975.
Recebido: 13.1.2020. Aprovado: 20.8.2021.
MENINGITE INFANTOJUVENIL NA BAHIA: UMA ABORDAGEM EPIDEMIOLÓGICA – 2007 A 2018
Émily Ane Araujo Santanaa
https://orcid.org/0000-0003-0566-7368
Normeide Pedreira dos Santos Francab
https://orcid.org/0000-0002-3399-625X
Resumo
Meningites são doenças de notificação compulsória com alta morbimortalidade, cuja principal etiologia é infecciosa. Elas acometem pessoas de qualquer idade, embora atinjam mais frequentemente crianças com menos de cinco anos. O objetivo deste estudo foi avaliar a epidemiologia das meningites em crianças e adolescentes no estado da Bahia entre 2007 e 2018. Trata-se de uma pesquisa de corte transversal, que analisou dados da base digital do Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde (Sinan) e incluiu todos os pacientes de 0 a 19 anos com meningite confirmada na Bahia, entre 2007 e 2018. As variáveis estudadas foram macrorregião/município, sexo, idade, raça, sazonalidade, etiologia, métodos diagnósticos e evolução/desfecho. Foram identificados 152.422 casos no Brasil, sendo 8.579 casos na Bahia (5,6% do país; 27,7% do Nordeste), mais frequentes em 2007 (18,3%), com declínio entre 2013 e 2018. A capital, Salvador, abrangeu 72,6% dos casos do estado. Predominaram: sexo masculino (razão 1,5:1), idade entre cinco e nove anos (28,2%), raça parda (53,4%) e etiologia viral (57,8%), esta última com predomínio na primavera. Agentes isolados: meningococos (9,1%), pneumococos (3,1%) e 14% foram “outras bactérias”. Isolamento de sorogrupos do meningococo (52,1%): A (0,25%), B (12,40%), C (81%), Y (0,25%), W135 (5,5%) e 29E (0,7%). O método diagnóstico principal foi o quimiocitológico. Desfechos: alta hospitalar (83,6%), óbitos por meningite (6,6%), por outras causas (1,1%). A meningite na Bahia declinou acentuada -
a Médica. Residente de Infectologia na Universidade Federal de São Paulo. São Paulo, São Paulo, Brasil. E-mail: emilyasantana@hotmail.com
b Médica. Doutorado em Medicina e Saúde Humana. Docente na Universidade Estadual de Feira de Santana. Feira de Santana, Bahia, Brasil. E-mail: normeide@servac.com.br
Endereço para correspondência: Universidade Estadual de Feira de Santana. Avenida Transnordestina. s/n, Novo Horizonte. Feira de Santana, Bahia, Brasil. CEP: 44036-900. E-mail: colmeduefs@uefs.br
mente entre 2013 e 2017, podendo indicar uma consequência da vacinação de rotina, entretanto, a metodologia utilizada não permite confirmar essa relação. Os sorogrupos C e B foram mais frequentes, mas vale ressaltar que 69% (22/32) dos casos nordestinos pelo W 135 ocorreram na Bahia.
Palavras-chave: Meningite. Criança. Adolescente. Epidemiologia.
CHILDHOOD
Abstract
Meningitis is a notifiable disease with high morbidity and mortality, whose main etiology is infectious. It affects people of any age, and particularly children under five years of age. Given this context, this cross-sectional study sought to evaluate the epidemiology of meningitis in children and adolescents in the state of Bahia, Brazil, between 2007 and 2018. Data was collected from the Ministry of Health Information System of Notifiable Diseases (SINAN) database and included all patients aged 0 to 19 years with confirmed meningitis. Macroregion/ municipality, gender, age, race/ethnicity, seasonality, etiology, diagnostic methods, and evolution/ outcome were the variables studied. A total of 152,422 cases were identified in Brazil, with 8,579 cases in Bahia (5.6% of the country, 27.7% of the Northeast), more frequent in 2007 (18.3%), and decreasing between 2013-2018. The capital, Salvador, accounted for 72.6% of the state’s cases. Male gender (1.5:1), age between five and nine years (28.2%), brown (53.4%) and viral aetiology (57.8%), occurring latter in spring, predominated. Meningococci (9.1%) and pneumococci (3.1%) predominated as isolated agents, while 14% were classified as ‘other bacteria.’ Isolation of meningococcal serogroups (52.1%): A (0.25%), B (12.40%), C (81%), Y (0.25%), W135 (5.5%) and 29E (0.7%). The main diagnostic method was chemocytological. Main outcomes included hospital discharge (83.6%), and death by meningitis (6.6%) and other causes (1.1%). In Bahia, infection by meningitis showed a sharp decline between 2013 and 2017, which may result from vaccination routine; however, the methodology used does not allow us to infer this relationship. Serogroups C and B predominated, but 69% (22/32) of Northeastern cases by serogroup W135 occurred in Bahia.
Keywords: Meningitis. Child. Adolescent. Epidemiology.
Las meningitis son enfermedades de notificación obligatoria, con alta morbimortalidad cuya principal etiología es infecciosa. Estas enfermedades acometen a personas de cualquier edad, aunque son más frecuentes en individuos con menos de 5 años de edad. El objetivo de este estudio fue evaluar la epidemiología de las meningitis en niños y adolescentes en el estado de Bahía (Brasil) entre 2007-2018. Se trata de un estudio de corte transversal, que analizó datos de la base digital del Sistema de Información de Agravios de Notificación del Ministerio de Salud (SINAN) e incluyó a todos los pacientes de 0 a 19 años con meningitis confirmada en Bahía, entre 2007-2018. Las variables estudiadas fueron municipio/ macrorregión, sexo, edad, raza, estacionalidad, etiología, métodos diagnósticos y evolución/ desenlace. Se produjeron 152.422 casos en Brasil, de los cuales 8.579 fueron en Bahía (5,6% del país, 27,7% del Nordeste), los más frecuentes en 2007 (18,3%), con descenso entre 20132018. La capital de Bahía, Salvador, cubrió el 72,6% de los casos del estado. Hubo un mayor predominio en el sexo masculino (1,5:1), con edad entre los 5 y los 9 años (28,2%), raza parda (53,4%) y etiología viral (57,8%), esta última con mayor prevalencia en la primavera. Los agentes aislados fueron meningococos (9,1%), neumococos (3,1%) y “otras bacterias” (14%). El aislamiento de los serogrupos del meningococo (52,1%): A (0,25%), B (12,40%), C (81%), Y (0,25%), W135 (5,5%) y 29E (0,7%). El método diagnóstico principal fue el quimiocitológico. Los desfechos fueron alta hospitalaria (83,6%), muertes por meningitis (6,6%) y otras causas (1,1%). La meningitis en Bahía declinó acentuadamente entre 2013 y 2017, lo que puede apuntar un impacto de la vacunación de rutina, pero la metodología utilizada no permite inferir esa relación. Los serogrupos C y B fueron los más frecuentes, sin embargo, cabe destacar que el 69% (22/32) de los casos nordestinos por el W135 ocurrieron en Bahía.
Palabras clave: Meningitis. Niño. Adolescente. Epidemiología.
A meningite é definida como a inflamação das meninges, mais especificamente as leptomeninges – pia-máter e aracnoide – e o espaço subaracnóide. Ela pode ter etiologia infecciosa (bactérias, vírus, protozoários, helmintos, espiroquetas e fungos) e não infecciosa, a exemplo de traumas, neoplasias e drogas1.
A meningite representa um sério problema para a saúde pública, comprometendo, sobretudo, crianças e adolescentes2. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS)3, a meningite e a sepse causam atualmente mais mortes nas crianças menores de cinco anos do que a malária. No Brasil, mais de cinco mil casos da doença por etiologia bacteriana foram notificados no ano de 20144. Na Bahia, dados de 2016 mostraram 517 casos de meningite de etiologia diversa, com 11% deles evoluindo para óbito5. Ademais, os pacientes que sobrevivem podem sofrer sequelas graves, implicando importantes custos sociais e econômicos3.
Entre os tipos de meningite conhecidos, os mais preocupantes são as variantes que compõem a doença meningocócica invasiva (DMI) – meningite meningocócica e/ou meningococcemia – causada pela bactéria Neisseria meningitidis (NM), devido a sua capacidade de gerar quadros graves e letais, além do seu potencial epidêmico6. No panorama global, a incidência de meningite meningocócica na Europa é de 0,92 casos por cem mil habitantes, enquanto na África esse número salta para cem a mil casos por cem mil habitantes. No Brasil, registra-se aproximadamente 1,8 casos por cem mil habitantes7. A NM possui 13 sorogrupos, classificados segundo o polissacarídeo capsular bacteriano (A, B, C, D, X, Y, Z, 29E, W135, H, I, K, L), sendo seis deles – A, B, C, Y, X, W135 – associados a uma maior repercussão clínica, podendo produzir dano cerebral severo4.
Em uma perspectiva clínica, a suspeita de meningite ocorre por meio da ocorrência de uma síndrome, em geral grave, que pode apresentar-se com cefaleia intensa, náuseas e vômitos, febre, rigidez de nuca, prostração, confusão mental, sinais de irritação meníngea e alterações no líquor (LCR)1,7
Todos os casos suspeitos de meningite devem ser obrigatoriamente notificados ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) e investigados pela vigilância epidemiológica, independentemente da etiologia8, uma vez que ela é considerada uma doença endêmica no Brasil com casos esperados no decorrer de todo o ano, havendo surtos e epidemias eventuais1
Segundo o Ministério da Saúde, os exames laboratoriais disponíveis para confirmação do diagnóstico de meningite bacteriana são: a cultura com antibiograma, a contraimunoeletroforese cruzada (CIE); a aglutinação pelo látex e a bacterioscopia. O exame quimiocitológico possibilita contar células e dosar glicose e proteínas no LCR, no entanto, não deve ser usado para diagnóstico final, devido a sua baixa especificidade. Com relação às meningites de etiologia viral, estão disponíveis o isolamento viral em cultura celular do LCR e fezes, reação de soroneutralização e de imunofluorescência e a reação em cadeia pela polimerase (PCR)1.
Apesar de todos os avanços no combate à meningite no Brasil, ainda precisam ser empreendidos esforços para maior controle dessa doença de maior acometimento infantojuvenil.
Este trabalho buscou conhecer a epidemiologia das meningites no estado da Bahia em crianças e adolescentes (faixa etária de 0 a 19 anos) no período de 2007 a 2018, podendo contribuir para a elaboração de estratégias de prevenção.
Trata-se de um estudo descritivo, de corte transversal, realizado por meio do levantamento de dados secundários fornecidos pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde, disponíveis na base de dados digital Tabnet do Departamento de Informática do SUS (Datasus) na categoria de informações epidemiológicas e de morbidade.
Como critérios de inclusão, foram considerados os casos confirmados de meningite nos pacientes de 0 a 19 anos no estado da Bahia, no período de 2007 a 2018. Foram excluídos pacientes com idade superior a 19 anos.
As variáveis de interesse para o estudo foram: macrorregião/município, sexo, idade (faixas etárias: menor que um ano, 1 – 4, 5 – 9, 10 – 14, 15 – 19 anos), raça, mês de maior prevalência (sazonalidade), etiologia: meningococemia (MCC); meningite meningocócica (MM); meningite meningocócica com meningococemia (MM+MCC); isolamento dos sorogrupos do meningococo (A, B, C, Y, W135, 29E); meningite tuberculosa (MTBC); meningite por outras bactérias (MB); meningite não especificada (MNE); meningite asséptica ou viral (MV); meningite de outra etiologia (MOE); meningite por Haemophillus (MH); meningite por pneumococos (MP); critério confirmatório e desfecho clínico: alta (pressupõe cura), óbito por meningite e óbito por outras causas.
Os dados foram coletados e analisados por meio de distribuições absolutas e percentuais das variáveis em análise. Os dados foram tabulados no software Excel, versão 2010, e posteriormente analisados, descritos em medidas de frequência e percentual.
Por se tratar da análise de dados secundários, com informação em sistema de informação de domínio público, este trabalho não necessitou da aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos (CEP).
Segundo os dados do Sinan, no período de 2007 a 2018 foram confirmados 152.422 casos de meningite no Brasil, sendo 31.008 oriundos da região Nordeste. O estado da Bahia foi responsável por 8.579 casos da doença, levando-o a assumir a quinta posição no
país (5,6%) e o segundo lugar na região Nordeste (27,7%), ficando atrás apenas do estado de Pernambuco (42,2%).
Com relação à distribuição de casos de meningite na Bahia, 2007 foi o ano que apresentou o maior número de ocorrências (18,3%). A partir de 2012, observou-se queda progressiva dos casos, atingindo o menor número em 2018 (2,6%) (Figura 1)
Figura 1 – Casos de meningite entre 0 e 19 anos pelo ano de manifestação do primeiro sintoma – 2007 a 2018. Feira de Santana, Bahia, Brasil – 2019

Partindo-se de uma análise por macrorregiões (Tabela 1), divididas em nove de acordo com a semelhança dos territórios, os serviços de alta complexidade instalados, a população referenciada, os investimentos feitos pelo estado por meio de convênios, entre outros9, nota-se que a macrorregião leste teve o maior número de casos no estado, com 6.494 ocorrências, das quais 6.231 foram do município de Salvador.
Em segundo lugar, a macrorregião sudoeste apresentou 617 confirmações da doença, sendo Vitória da Conquista a cidade com maior número de casos (540). Não houve notificações ignoradas ou deixadas em branco nesse critério.
Quanto ao sexo, predominou-se o masculino, com 60,6% dos casos (5.203), constituindo uma razão de 1,5 homens para 1 mulher. Os ignorados foram um total de 11 casos (0,13%).
Concernente à distribuição pelas faixas etárias, de 2007 a 2018, as crianças de 5 a 9 anos apresentaram maior prevalência de casos, 2.417 (28,2%). O grupo etário de 1 a 4 anos (dois mil casos) se manteve em segundo lugar na maior parte dos anos estudados, decrescendo de forma importante a partir de 2015. Para as faixas etárias restantes, de 2015 a 2018, o número de casos apresentou pouca variação, com menor ocorrência em relação aos anos anteriores (Tabela 2).
Tabela 1 – Macrorregião de saúde e respectivo município com maior número de casos de meningite – 2007 a 2018, 0 a 19 anos. Feira de Santana, Bahia, Brasil – 2019
Macrorregião de saúde em ordem de maior número de casos (número de casos – %)
Município de notificação com maior número de casos (número de casos – %)
1º Leste (6494 – 75,7%) Salvador (6231 – 72,6%)
2º Sudoeste (617 – 7,2%)
3º Sul (375 – 4,4%)
4º Centro-leste (328 – 3,8%)
5º Centro-norte (224 – 2,6%)
Vitória da Conquista (540 – 6,3%)
Itabuna (200 – 2,3%)
Feira de Santana (207 – 2,4%)
Irecê (169 – 2,0%)
6º Extremo sul (198 – 2,3%) Teixeira de Freitas e Porto Seguro (72 – 0,8%)
7º Oeste (151 – 1,8%) Barreiras (102 – 1,2%)
8º Norte (103 – 1,2%) Juazeiro (47 – 0,5%)
9º Nordeste (89 – 1,0%)
Fonte: Elaboração própria.
Catu e Alagoinhas (19 – 0,2%)
Tabela 2 – Número de casos de meningite por faixa etária de 2007 a 2018. Feira de Santana, Bahia, Brasil – 2019
Levando em consideração a raça, a parda apresentou o maior número de notificações confirmadas, com 53,4% (4.579 casos), seguida da branca, 7,6% (650 casos) e preta, com 6,3% (538 casos). As raças amarela e indígena, conjuntamente, não apresentaram casos em 2011 e 2017, ambas somaram 51 casos durante todo o período analisado (0,6%). Os deixados em branco ou ignorados foram 2.761 casos (32,2%). Especificamente com relação à DMI, os dados apontaram predomínio também da raça parda, com 57,3% (442 casos), seguida da raça preta, 8,4% (65 casos) e branca, 7,4% (58 casos). Os casos ignorados e deixados em branco foram 204 (26,4%).
Relacionando a distribuição de casos pelos meses e a sazonalidade, a meningite na Bahia nos 12 anos estudados apresentou, aproximadamente, 29,5% dos casos na primavera (outubro – dezembro), 26% no inverno (julho – setembro), 23,8% no outono (abril – junho) e o menor percentual, 20,5%, no verão (janeiro – março). De modo geral, o aumento da prevalência nos meses de outubro (919 casos – 11%) e novembro (890 casos – 10,4%) especificamente deveu-se principalmente aos casos de meningite viral (Figura 2), que se destacou nesse cenário, obtendo pico (68,4% dos casos) no mês de novembro – primavera – e menor ocorrência no mês de fevereiro (55,7%) – verão.
As demais etiologias não apresentaram desníveis relevantes durante os meses. A MB e a MNE assumiram o segundo e terceiro lugares com maior prevalência na primavera –27,7% e no inverno 27%, respectivamente. A DMI exibiu maior prevalência no outono 26,9% e menor na primavera 22,6%. As meningites de etiologia ignorada ou deixadas em branco representaram cerca de 2,8% dos casos.
Figura 2 – Sazonalidade e etiologia das meningites, entre 0 e 19 anos – 2007 a 2018.
Feira de Santana, Bahia, Brasil – 2019
Fonte: Elaboração própria.
MCC: meningococcemia; MM: meningite meningocócica; MM+MCC: meningite meningocócica com meningococcemia; MTBC: meningite tuberculosa; MB: meningite por outras bactérias; MNE: meningite não especificada; MV: meningite asséptica (viral); MOE: meningite de outra etiologia; MH: meningite por hemófilo; MP: meningite por pneumococos.
A etiologia mais prevalente no período do estudo foi a MV com 4.819 casos, 57,8% (Tabela 3), cuja ocorrência passou de um padrão flutuante entre 2008 e 2013 para queda progressiva após esse período. A meningite por outras bactérias (MB), 1166 casos (14%), ficou em segundo lugar, exibindo redução importante do número de casos também a partir de 2013. Por outro lado, a meningite pneumocócica (MP), que vinha em decréscimo, voltou a
aumentar nos últimos anos, com taxa de crescimento de 217% de 2016 a 2017. Fato também ocorrido com a meningite por Haemophilus, a qual, entre 2017 e 2018 teve um acréscimo de 75% no número de casos. Os dados deixados em branco/ignorados durante todo o período analisado foram 241 (2,8%).
Tabela 3 – Etiologia da meningite na faixa etária de 0 a 19 anos por ano do primeiro sintoma – 2007 a 2017. Feira de Santana, Bahia, Brasil – 2019
Fonte: Elaboração própria.
MCC: meningococcemia; MM: meningite meningocócica; MM+MCC: meningite meningocócica com meningococcemia; MTBC: meningite tuberculosa; MB: meningite por outras bactérias; MNE: meningite não especificada; MV: meningite asséptica (viral); MOE: meningite de outra etiologia; MH: meningite por hemófilo; MP: meningite por pneumococos.
Os principais critérios confirmatórios foram o quimiocitológico (citoquímica do LCR apresentando celularidade aumentada e bioquímica alterada) com 6.350 casos (74%), a cultura do LCR com 744 casos (8,7%) e o clínico com 531 casos (6,2%). Estava ausente a informação (em branco) em 74 casos (0,9%).
Considerando especificamente a DMI, foram 773 casos em todo o estado da Bahia, dos quais a maior porcentagem (19,5%) ocorreu em 2009 e a menor (1,5%) em 2017.
A partir de 2012, houve decréscimo significativo nos números de suas apresentações (MCC, MM e MM+MCC), no entanto, a MM, que já apresentava o maior número de casos de DMI, revelou aumento substancial no último ano, a uma taxa de 85,7% em relação ao ano de 2017. No que tange ao grupo etário, a associação MM+MCC foi predominante na faixa etária de 5 a 9 anos (26,4%), a MCC isoladamente atingiu mais os menores de um ano e os de 1 a 4 anos (21,5%) e a MM prevaleceu na faixa etária de 10 a 14 anos (26,9%). Os critérios confirmatórios mais realizados para a DMI foram a aglutinação pelo látex, com 250 casos (32,3%), seguida pela cultura com 223 casos (28,8%) e o clínico com 107 casos (13,8%).
Os sorogrupos de meningococo na Bahia foram identificados em 52,1% dos 773 casos, a saber: A (0,25%), B (12,4%); C (81%); Y (0,25%), W135 (5,5%) e 29E (0,7%). Embora
o sorogrupo C tenha sido o mais prevalente durante o período do estudo, vale destacar que o W135 conferiu à Bahia o primeiro lugar no número de notificações desse sorogrupo em todo Nordeste, com 22 casos (69%) entre os 32 confirmados na região.
Ao longo dos últimos 12 anos, a alta foi o desfecho mais preponderante (7.169), correspondendo a 83,6%. O número de óbitos por meningite exibiu padrão de queda ao longo dos anos analisados, com um total de 570 casos, 6,6% de letalidade. A maior porcentagem de óbitos, 30,3%, ocorreu pela DMI, letalidade de 2%, contexto em que a MCC predominou em 45,6% dos casos, seguida pela MNE (22,6%) e MB (17,5%). A MV foi responsável pela menor parcela de mortes (5,8%), com letalidade de 0,4%. O óbito por outras causas foi responsável por 1,1% do número de casos. Os deixados em branco ou ignorados foram 741 casos (8,7%). Com relação à idade, os extremos dos grupos etários analisados apresentaram o maior número de mortes por meningite, com 31,6% para os menores de 1 ano e 18,6% para os de 15 a 19 anos.
Este estudo avaliou a prevalência da meningite infantojuvenil no estado da Bahia de 2007 a 2018 e evidenciou que, nos últimos 12 anos, a doença vem apresentando decréscimo do número de casos, acompanhando a tendência do país, cujos casos diminuíram de vinte mil em 2011 para 9.282 em 20155,7.
O maior número de casos na capital do estado (72,6%) é semelhante ao encontrado em estudo anterior, no qual, entre os casos de meningite confirmados na Bahia, 75,4% foram provenientes de Salvador6. É possível que a maior concentração na capital seja devido à maior população em relação às demais cidades, além dos casos de transferência do interior do estado, uma vez que na capital há mais acesso a suportes diagnósticos e terapêuticos quando comparados aos disponíveis em outras localidades.
O sexo masculino foi predominante, concordando com os estudos de Guimarães10 (65% dos casos nacionais) e de Morais11 (60,2% dos casos soteropolitanos). Com relação à faixa etária, embora tradicionalmente os menores de cinco anos sejam os mais acometidos no âmbito nacional10,12, neste trabalho as meningites foram mais frequentes no grupo de cinco a nove anos, dado também verificado em trabalho realizado em Salvador, no qual essa faixa etária correspondeu a 18,6% dos casos avaliados no período de 2011 a 201511.
Considerando-se a raça, a parda predominou nos casos do estado da Bahia, seguindo a tendência nacional, uma vez que apenas as regiões sudeste e sul do país tiveram maioria branca13. Embora essa variável seja um “conceito dinâmico, socialmente construído e fenotipicamente atribuível”14:278, o que pode induzir à ocorrência de vieses, a possibilidade
de verificá-la nesse agravo da saúde possibilita rastrear populações em risco historicamente marcadas no país e no estado.
No tocante à distribuição sazonal da meningite, apenas a meningite viral apresentou alteração notável durante os meses, atingindo pico de prevalência na primavera, o que diverge dos achados15 em Recife, onde não houve picos sazonais, e do estado do Paraná16, onde as meningites virais foram mais prevalentes no verão e as bacterianas no inverno.
Pela classificação etiológica das meningites, a viral foi a etiologia mais prevalente na Bahia, o que concordou com pesquisas17,6 no estado de São Paulo e no Brasil, revelando, neste último, uma taxa de incidência de 44,6% para essa etiologia.
Concernente à etiologia, foi visto que houve decréscimo de 82,9% no número de casos da DMI na Bahia, comparando o ano de 2007 ao ano de 2018, redução também verificada com a MB (69%) e com a MNE (71%). Nos últimos dois anos, a MP apresentou aumento em relação a 2016. Tais dados também foram analisados no estudo de Berezin4, demonstrando que em quatro anos (2011 – 2014), no Brasil, houve queda de 10% no número de casos gerados pela NM e estabilização dos casos provocados pelo Streptococcus pneumoniae (16%) e pelo Haemophilus influenzae (2%). As meningites ocasionadas por outras bactérias (MB) e de etiologia não especificada (MNE) aumentaram em ocorrência, segundo o autor, passando de 18% para 23% e de 26% para 31%, respectivamente.
Com relação à DMI, o Nordeste é a segunda região brasileira mais afetada pela doença, depois apenas do Sudeste, e a Bahia é o estado mais atingido da região nordestina. Neste estudo, os casos de DMI entre 15 e 19 anos superaram os grupos etários menores de 1 ano e de 1 a 4 anos, o que divergiu do estudo4 que apontou o menor número de casos de DMI entre os adolescentes.
Quanto às apresentações da DMI (MM, MM+MCC e MCC), os resultados deste estudo são concordantes com os dados nacionais8, nos quais se encontrou 39,1% de MM, seguido de 30,9% de MM+MCC e 30% de MCC. Entre 2009 a 2010 foi encontrada uma redução de 37% nas mortes por DMI na Bahia, diferindo de dados18 que relataram um surto da doença nesse período, com um aumento de cerca de 52% sendo quatro pertencentes ao complexo clonal hipervirulento ST-103 (cc103no número de mortes por DMI no estado.
O sorogrupo do meningococo mais prevalente foi o C, concordando com outros autores8,12,18. É importante ressaltar que, na maioria das referências epidemiológicas do Brasil, são relatados os sorogrupos A, B, C, Y, X e W135 como os principais do meningococo e não fazem referência ao sorogrupo 29E, verificado neste estudo. A associação desse último sorogrupo à doença invasiva é incerta e ocorre provavelmente devido a uma susceptibilidade de base do
paciente. Há relatos de casos de doença invasiva por esse sorogrupo em paciente com mieloma múltiplo avançado19 publicado nos Estados Unidos em 1985 e em paciente com deficiência do sistema complemento20, divulgado pela Sociedade de Pediatria de Barcelona em 2013.
Com relação ao critério confirmatório, foi demonstrado predomínio do método quimiocitológico no estado, concordando com estudo21 em que 61,5% dos casos nacionais foram diagnosticados por esse método.
A alta, principal desfecho encontrado, também foi predominante em outras análises22,23. Os óbitos por meningite foram maiores nos anos de 2007 (17,5%) e 2009 (18,2%), o que também foi observado por outros autores22. Os menores de um ano foram a maioria entre os óbitos por meningite no período, dado semelhante ao encontrado em estudo realizado no Amazonas23
Esta pesquisa verificou que a taxa de letalidade das meningites na Bahia foi de 6,6%, dos quais 0,4% foram pela MV e a maior parte, 2%, pela DMI, sendo a MCC a responsável pela maior letalidade, com 45,6% de todos os casos provocados pela NM. Em outras pesquisas nacionais4,6, a taxa de letalidade das meningites no Brasil também é maior entre a causa bacteriana, das quais a meningite pneumocócica responde pela maioria dos casos (29,8%) e a meningite meningocócica apresenta taxa de letalidade aproximada de 20%, porém, ao se analisar somente a meningococcemia, essa taxa aumenta para cerca de 50%.
O decréscimo de meningite na Bahia nos últimos 12 anos pode ser explicado por fatores como urbanização, melhoria das condições sanitárias, menor ocorrência de desnutrição, maior desenvolvimento econômico e aumento da renda per capita; condições que de certa maneira influenciam o estado imunológico dos indivíduos, tornando-os menos susceptíveis a patologias6,24.
Outro fator, e certamente o mais importante, é a questão vacinal. Ao adotar o intervalo de 2007 a 2009 como período pré-vacinal e o de 2011 a 2013 como pós-vacinal, este trabalho verificou redução de aproximadamente 34% nas ocorrências de meningite. Estudo comparando esses mesmos períodos também mostrou redução em nível nacional, com diminuição na taxa de incidência da doença e sua mortalidade para 50% e 69%, respectivamente25. Ademais, pesquisa realizada na Bahia evidenciou que os menores de um ano apresentaram 21,2% menos risco de adoecer por DMI após a vacinação e os de 1 a 4 anos obtiveram redução de 80% nesse mesmo indicador26
Quando se considera especificamente a meningite pneumocócica, este trabalho diferiu dos achados do estudo de Grando et al.25, que não demonstraram redução significativa do número de casos após a vacinação, passando de uma taxa de 0,26/100 mil habitantes em
2010 para 0,24/100 mil habitantes em 2012. É importante destacar, como limitação desses dados, que ao longo dos anos novas estratégias de detecção laboratorial das meningites e de redução da subnotificação têm sido implementadas no país, o que pode mascarar o real impacto da vacinação nesse caso.
Este trabalho apresenta limitações por tratar-se de um estudo retrospectivo baseado em fonte de dados com possibilidade de vieses secundários ao manejo das fichas de notificação por diferentes indivíduos, o que pode gerar preenchimento inadequado ou incompleto, com informações escassas ou até erros na digitação para a base de dados. Além disso, outra fragilidade é o fato de que informações clínicas não puderam ser incluídas neste trabalho, uma vez que as fichas de notificação e investigação das meningites não estavam disponíveis para acesso público.
A relevância deste escrito consiste na possibilidade de sensibilizar os gestores da saúde a estruturar um planejamento de acesso aos serviços de assistência à saúde, estrategicamente voltado para a prevenção da meningite infantojuvenil no estado da Bahia, o que certamente contribuirá para redução dessas estatísticas
Em conclusão, este estudo demonstrou que no período analisado a Bahia foi o segundo estado do Nordeste brasileiro em número de confirmações de meningite, sendo o maior número de casos concentrados na capital, Salvador.
A faixa etária mais acometida foi a de 5 a 9 anos, o que divergiu de vários estudos nacionais, que referem maior frequência entre as crianças de 1 a 4 anos de idade. Houve um declínio acentuado na ocorrência de meningite na Bahia no período estudado, principalmente entre 2013 e 2018, podendo indicar uma consequência da vacinação, entretanto, a metodologia utilizada não permite confirmar essa associação.
A doença meningocócica invasiva na Bahia contribuiu com quase um terço dos casos nordestinos. Embora os sorogrupos C e B tenham sido os mais frequentes no estado, cerca de 69% dos casos pelo sorogrupo W135 da região Nordeste ocorreram na Bahia.
1. Concepção do projeto ou análise e interpretação dos dados: Émily Ane Araujo
Santana e Normeide Pedreira dos Santos Franca
2. Redação do artigo ou revisão crítico relevante do conteúdo intelectual: Émily Ane Araujo Santana e Normeide Pedreira dos Santos Franca
3. Revisão e/ou aprovação da versão final a ser publicada: Émily Ane Araujo Santana e Normeide Pedreira dos Santos Franca
4. Responsável por todos os aspectos do trabalho na garantia da exatidão e integridade de qualquer parte da obra: Émily Ane Araujo Santana e Normeide Pedreira dos Santos Franca
1. Brasil. Ministério da Saúde. Guia de vigilância epidemiológica. 7a ed. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2009.
2. Kmetzsch CI, Schermann MT, Santana JCB, Estima CL, Faraco FJ, Silva CM, et al. Occurrence of Haemophylus influenzae B meningitis after the implementation of a mass vaccination program. J Pediatr. 2003;79(6):530-6.
3. World Health Organization. Meningitis [Internet]. 2019 [citado em 2019 mar 1]. Disponível em: https://www.who.int/emergencies/diseases/meningitis/en/.
4. Berezin EN. Epidemiologia da infecção meningocócica. Doença meningocócica fascículo 1 SBP. 2015;(Pt 1):3-7.
5. Bahia. Secretaria da Saúde. Boletim epidemiológico das meningites na Bahia nº 1 – 2017 [Internet]. 2018 [citado em 2022 maio 24]. Disponível em http://www.saude.ba.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/2018-Boletimepidemiol%C3%B3gico-Meningites-n.-01.pdf
6. Barreto M, Teixeira MG, Bastos FI, Ximenes RAA, Barata RB, Rodrigues LC. Sucessos e fracassos no controle de doenças infecciosas no Brasil: o contexto social e ambiental, políticas, intervenções e necessidades de pesquisa. Lancet. 2011;3:47-60.
7. Cordeiro SM, Neves AB, Ribeiro CT, Petersen ML, Gouveia EL, Ribeiro GS, et al. Hospital-based surveillance of meningococcal meningitis in Salvador, Brazil. Trans R Soc Trop Med Hyg. 2007;101(11):1147-53.
8. Brasil. Ministério da Saúde. Boletim epidemiológico: situação epidemiológica da doença meningocócica, Brasil, 2007-2013. Bol Epidemiol. 2016;47(29):1-8.
9. Brasil. Ministério da Saúde. Regionalização solidária e cooperativa: orientação para sua implementação no SUS. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2006. (Brasil. Pactos pela Saúde 3).
10. Guimarães MGB. Perfil epidemiológico dos casos confirmados de meningite em Ituiutaba-MG. Ituiutaba (MG). Trabalho de Conclusão de Curso [Graduação em Ciências Biológicas] – Universidade Federal de Uberlândia; 2017.
11. Morais JMR, Rocha LH, Costa TP, Sousa MNA. Retrato da meningite em Salvador-BA: análise do período entre 2011-2015. Ciência & Desenvolvimento – Revista Eletrônica da FAINOR. 2017;10(1):185-96.
12. Brasil. Ministério da Saúde. Guia de vigilância em saúde. 3a ed. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2019.
13. Gonçalves e Silva HC, Mezzaroba N. Meningite no Brasil em 2015: o panorama da atualidade. Arq Catarin Med. 2018;47(1):34-46.
14. Muniz JO. On the use of the variable race-color in quantitative studies. Rev Sociol Polít. 2010;18(36):277-91.
15. Lima AAF, Melo Filho DA, Ferreira LOC, Alencar AP. Descrição do processo endêmico-epidêmico da meningite viral no Recife entre 1998 e 2008. Epidemiol Serv Saúde. 2011;20(2):223-32.
16. Mendonça F, Paula EV. Meningites no estado do Paraná: uma leitura geográfica. Raega. 2008;(14):127-43.
17. Peres LVC, Carvalhanas TRMP, Barbosa HA, Gonçalves MIC, Timenetsky MCST, Campéas AE. Meningite viral. Bepa Bol Epidemiol Paul. 2006;3(30):9-12.
18. Filippis I, Silva RCV, Sá MFMU, Sardinha GG, Cordeiro SM. The 2010 Meningococcal outbreak in Bahia, Brazil, was caused by 2 different STs belonging to Clonal Complex ST-103. Vigil Sanit Debate. 2013;1(1):21-4.
19. Wachter E, Brown AE, Kiehn TE, Lee BJ, Armstrong D. Neisseria meningitidis serogroup 29E (Z’) septicemia in a patient with far advanced multiple myeloma (plasma cell leukemia). J Clin Microbiol. 1985;21(3):464-6.
20. Rius Gordillo N, Fernández-San José C, Martín-Nalda A, Moraga-Llop FA, Hernández-González M, Soler-Palacin P. Enfermedad invasora por Neisseria meningitidis serogrupo 29E y deficiencia de C5. An Pediatr. 2014;81(2):130-1.
21. Rodrigues EMB. Meningite: perfil epidemiológico da doença no Brasil nos anos de 2007 a 2013. Brasília (DF). Trabalho de conclusão de curso [Bacharelado em Biomedicina] – Centro Universitário de Brasília; 2015.
22. Oliveira CCD, Magnani AC. Incidência de meningite em crianças de 0-5 anos do município de Maringá-PR do ano de 2007 a 2009. Uningá. 2011;30(1):1-8.
23. Vieira JFS. Incidência de meningite em pacientes de 0 - 12 anos no Instituto de Medicina Tropical de Manaus. Arq Neuro-Psiquiatr. 2001;59(2A):227-9.
24. Lima RA. A ocorrência da meningite após o advento da vacinação como política pública de saúde. Vitória (ES). Dissertação [Mestrado em Políticas Públicas e Desenvolvimento Local] –Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória – Emescam; 2017.
25. Grando IM, Moraes C, Flannery B, Ramalho WM, Horta MAP, Pinho DLM, et al. Impact of 10-valent pneumococcal conjugate vaccine on pneumococcal meningitis in children up to two years of age in Brazil. Cad Saúde Pública. 2015;31(2):276-84.
26. Deus AAF. Impacto epidemiológico da vacina meningocócica C conjugada no estado da Bahia. Salvador (BA). Dissertação [Mestrado em Saúde Coletiva] – Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia; 2014.
Recebido: 28.5.2019. Aprovado: 30.3.2022.
Amanda Portela Silvaa
https://orcid.org/0000-0002-4558-9889
Isabel Cristina Britto Guimarãesb
https://orcid.org/0000-0003-3367-5779
A endocardite infecciosa, um processo infeccioso da superfície do endocárdio, vem apresentando maiores taxas de incidência na população pediátrica, sendo considerada importante causa de mortalidade. A partir deste trabalho, busca-se descrever as principais características clínicas e demográficas dos pacientes com endocardite e avaliar os fatores preditores de óbito nessa população. Trata-se de um estudo de coorte retrospectiva, baseado na avaliação de prontuários do período de 2010 a 2016, em hospital terciário. A amostra contou com pacientes menores de 18 anos com diagnóstico de endocardite, pelos critérios de Duke. Os dados foram analisados com o programa estatístico SPSS 20.0. Para a análise inferencial bivariada foi utilizado o teste do qui-quadrado. Valores de p < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes. O grupo de estudo incluiu 31 pacientes; 61,3% do sexo masculino. Todos os pacientes tinham cardiopatia prévia, sendo 74,2% cardiopatia congênita e 25,8% cardiopatia reumática crônica. Cirurgia prévia esteve presente em 45,2%; hemocultura positiva em 54,8%; vegetações visíveis ao ecocardiograma transtorácico em 83,9% e complicações em 38,7%, sendo a embolização a principal complicação (22,6%). Houve associação, estatisticamente significante, entre prótese valvar como sítio de endocardite e embolização, quando associadas ao óbito, com proporções de 100% (p = 0,001) e 60% (p = 0,029), respectivamente. A taxa de mortalidade foi de 16,1%.
Conclui-se que a cardiopatia prévia é o principal fator predisponente para a endocardite
a Médica. Especialista em Medicina de Família e Comunidade. Salvador, Bahia, Brasil. amandaportela.aps@gmail.com
b Médica. Especialista em Cardiologia Pediátrica e em Ecocardiografia. Mestrado e Doutorado em Medicina e Saúde (Cardiologia). Professora Adjunta do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina - UFBA, supervisora do Programa Residência Médica em Cardiologia Pediátrica do Complexo HUPES e coordenadora do Serviço de Cardiologia Pediátrica do Hospital Ana Nery-UFBA. Salvador, Bahia, Brasil. isabelcbguimaraes@gmail.com
Endereço para correspondência: Hospital Ana Nery. Rua Saldanha Marinho, s/n, Caixa D’água, Salvador, Bahia, Brasil. CEP: 40301-155 E-mail: contato@han.net.br
infecciosa, principalmente cardiopatia congênita. Contudo, a cardiopatia reumática crônica ainda é um fator de risco importante. A mortalidade da endocardite infecciosa é elevada, e os preditores são: prótese valvar como sítio da endocardite e embolização sistêmica.
Palavras-chave: Endocardite. Epidemiologia. Crianças. Adolescentes.
Abstract
Infective endocarditis, an infectious process of the endocardial surface, has shown higher incidence rates in the pediatric population, constituting an important cause of mortality. Thus, this retrospective cohort study describes the main clinical and demographic characteristics of endocarditis patients, and evaluates the predictors of death in this population. Data were collected from medical records produced by a tertiary hospital, from 2010 to 2016. The sample included patients under 18 years of age diagnosed with endocarditis according to Duke’s criteria. Data were analyzed using SPSS 20.0 statistical program. Bivariate inferential analysis used the chisquared test. Values p <0.05 were considered statistically significant. The study group included 31 patients, 61.3% male. All patients had prior heart disease, with 74.2% having congenital heart disease and 25.8% having chronic rheumatic heart disease. Of the 31 patients, 45.2% presented prior surgery, 54.8% had positive blood culture, 83.9% showed vegetations visible on transthoracic echocardiography, and 38.7% presented complications, with embolization being the main one (22.6%). Results showed a statistically significant association between valvular prosthesis as an endocarditis site and embolization when associated with mortality at 100% (p = 0.001) and 60% (p = 0.029) proportions, respectively. Mortality rate was 16.1%. In conclusion, prior heart disease is the main predisposing factor for endocarditis, mainly congenital heart disease. However, chronic rheumatic heart disease remains an important risk factor. Mortality of endocarditis is high, having valvar prosthesis as an endocarditis site and systemic embolization as predictors.
Keywords: Endocarditis. Epidemiology. Children. Teenagers.
Resumen
La endocarditis infecciosa es una infección en la superficie del endocardio, la cual se viene presentando mayores tasas de incidencia en la población pediátrica y es considerada una importante causa de mortalidad. En este trabajo se pretende describir las principales características clínicas y demográficas de los pacientes con endocarditis, así como evaluar los factores predictores de defunción en esa población. Se realizó una cohorte retrospectiva, basada en la evaluación de los historiales de los pacientes en el período de 2010 a 2016, en un hospital terciario. La muestra constó de pacientes menores de 18 años con el diagnóstico de endocarditis por los criterios de Duke. Los datos se analizaron mediante el programa estadístico SPSS 20.0. Para el análisis inferencial bivariado se utilizó la prueba del chi-cuadrado. Los valores de p <0,05 fueron considerados estadísticamente significantes. El grupo del estudio incluyó a 31 pacientes, 61,3% del sexo masculino. Todos los pacientes tenían cardiopatía previa, el 74,2% cardiopatía congénita y el 25,8% cardiopatía reumática crónica. La cirugía previa estuvo presente en el 45,2%, hemocultura positiva en el 54,8%, vegetaciones visibles al ecocardiograma transtorácico en el 83,9% y complicaciones en el 38,7%, con la embolización como la principal complicación (22,6%). Se observó una asociación estadísticamente significativa entre prótesis valvular como sitio de endocarditis y embolización cuando la asociaron a la muerte, con proporciones del 100% (p=0,001) y del 60% (p=0,029), respectivamente. La tasa de mortalidad fue del 16,1%. Por lo tanto, la cardiopatía previa es el principal factor predisponente para la endocarditis, principalmente la cardiopatía congénita. Sin embargo, la cardiopatía reumática crónica sigue siendo un factor de riesgo importante. La mortalidad de la endocarditis es elevada, y sus predictores son prótesis valvular como sitio de la endocarditis y embolización sistémica.
Palabras clave: Endocarditis. Epidemiologia. Niños. Adolescentes.
A endocardite infecciosa (EI) pode ser definida como infecção em qualquer estrutura cardíaca, incluindo superfícies endoteliais nativas, próteses valvares e dispositivos implantados no coração1,2. A infecção pode ser causada por agentes bacterianos, virais ou fúngicos e, geralmente, ocorre em pessoas com anormalidades cardiovasculares preexistentes1,3
A incidência atual de EI na população pediátrica é estimada em 1,5 a 11,6 casos por 1.000.000 admissões3-5. Tem se observado um aumento da incidência global de EI nos
últimos anos, o que pode estar relacionado com a melhoria da sobrevida entre as crianças com risco de EI, o aumento do uso de dispositivos protéticos e da realização de procedimentos, além das atuais técnicas mais sensíveis de diagnóstico1,3,4,6-8
As taxas de mortalidade de EI ainda são elevadas e giram em torno de 5% a 11%, chegando a 22% de mortalidade hospitalar e 40% de mortalidade nos cinco anos subsequentes3-5 Entretanto, a mortalidade vem diminuindo ao longo dos anos, e as mortes estão mais associadas com as complicações da doença9. Outros fatores que explicam o aumento da sobrevida, são a evolução dos procedimentos cirúrgicos e a melhora dos cuidados intensivos6.
A cardiopatia reumática tem sido, há muito tempo, considerada como predisponente clássica da endocardite, recentemente, entretanto, ela tem se tornado cada vez mais incomum, sobretudo nos países desenvolvidos9,10. Os principais fatores de risco para a EI na população pediátrica atualmente são a presença de cardiopatia congênita e procedimentos invasivos1,2,3,11.
Nas últimas décadas, a epidemiologia da EI vem mudando, e uma série de fatores pode ser responsável por essa mudança1-4,7,8,12,13 Uma parcela grande de crianças e adolescentes com cardiopatia congênita tem realizado cirurgias corretivas ou paliativas com sucesso, melhorando sua sobrevida global11. Entretanto, a correção cirúrgica de cardiopatia congênita, a existência de defeitos cardíacos residuais pós-cirurgia, e a presença de materiais protéticos, são fatores de risco isolados para a EI3,11,14.
Está ocorrendo também um aumento no número de crianças, sem doença cardíaca prévia, que adquiriram EI15. Crianças prematuras, com malformações congênitas não cardíacas, síndromes genéticas, doenças malignas, e que foram submetidas a qualquer procedimento invasivo, tem surgido como grupos de alto risco para a doença2-4,16-18
Os casos de endocardite clássica, causada por estreptococos, tem diminuído devido à redução da prevalência da febre reumática9,10. Em crianças, tem sido relatado aumento crescente de casos com maior prevalência de Staphylococcus aureus e de outras bactérias anteriormente menos identificadas na EI. O aumento desses casos de EI, associada a patógenos incomuns, está relacionado à maior realização de cirurgias cardíacas e a utilização de cateteres venosos centrais14
A apresentação clínica geralmente é indolente, com febre prolongada e outras queixas sistêmicas inespecíficas; tais como fadiga, fraqueza, artralgia, mialgia e perda de peso. Em alguns casos, a apresentação clínica pode ser exacerbada, com febre intensa e evolução rápida dos sintomas1,3,9,19.
O diagnóstico de EI se dá a partir da suspeita clínica, associação de sinais e sintomas e comprovação de bacteremia contínua1,9,20. Em 1994, foram propostos critérios diagnósticos baseados em dados microbiológicos e imagens ecocardiográficas, os chamados critérios de Duke. Esses critérios foram validados e atualizados em 2000, de modo a auxiliar no
diagnóstico de endocardite em casos de hemocultura negativa; e são os critérios mais aceitos atualmente no diagnóstico de EI3,11,15,20.
As complicações da EI podem ser cardíacas e extracardíacas. Entre as cardíacas, destaca-se a insuficiência cardíaca (IC), e entre as extracardíacas, destacam-se a embolização sistêmica, complicação mais frequente na infância, e lesões teciduais causadas por depósitos de complexos imunes circulantes3,5,19,21.
A incidência e os dados demográficos e clínicos dos pacientes com EI ainda são desconhecidos em grande parte do mundo, devido à escassez de estudos em várias regiões5 Juntamente, poucos desses mostram o panorama da EI na população pediátrica do Brasil; e não existem estudos que mostram o perfil da população pediátrica com EI especificamente na Bahia. Logo, conhecer as características clínicas e demográficas das crianças e adolescentes com EI é de grande importância para o maior conhecimento da doença na população local e, consequentemente, seu melhor manejo. Com o aumento dos estudos sobre o perfil da EI a nível mundial, novas estratégias de manejo e prevenção poderão ser criadas de acordo com a realidade específica das diversas regiões. Este estudo teve como objetivo descrever as principais características clínicas e demográficas de pacientes com EI – no Serviço de Cardiologia Pediátrica, em um hospital terciário –, identificar as patologias cardíacas associadas, os agentes responsáveis e avaliar a associação entre fatores preditores de mortalidade na população estudada.
O presente estudo trata-se de uma coorte retrospectiva, baseado na revisão de registros em prontuários de crianças e adolescentes com diagnóstico de EI. O tamanho amostral foi definido por amostra de conveniência, de acordo com a quantidade de prontuários viáveis para o estudo. No período de janeiro de 2010 a maio de 2016, foram registradas 5201 internações no Serviço de Cardiologia Pediátrica do hospital terciário estudado. A partir disso, os registros de admissões desse período foram revisados, de forma a selecionar os pacientes admitidos com o diagnóstico de EI.
Como muitos pacientes admitidos foram diagnosticados com EI durante a internação, foram revisados também os relatórios de alta desses pacientes, de forma a excluir aqueles que não tiveram diagnóstico de EI. Porém, nem todos os pacientes admitidos possuíam o relatório de alta disponível para consulta, logo, esses casos também foram selecionados para revisão de prontuários, de forma a se evitar a perda de dados de pacientes que desenvolveram ou foram diagnosticados com EI durante a internação. A partir disso, 396 prontuários foram selecionados para revisão; contudo, apenas 177 foram liberados durante o período de coleta de dados e 219 não foram avaliados. Os prontuários disponibilizados foram revisados, e um total de 31 pacientes, menores de 18 anos, de
ambos os gêneros, com diagnóstico de EI foi selecionado para este estudo. Os critérios diagnósticos utilizados foram os de Duke, sendo os maiores: hemoculturas e ecocardiograma positivos, e os menores: condição cardíaca predisponente, febre, fenômenos vasculares, fenômenos imunológicos e evidências microbiológicas. Foram incluídos os indivíduos com dois critérios maiores, ou um critério maior e três menores. Não foram utilizados critérios de exclusão.
As variáveis avaliadas foram: idade, em anos; sexo, feminino ou masculino; naturalidade, Salvador (BA) ou outras cidades; e procedência, cardiopatia, cirurgia e acesso venoso prévios, febre, sopro cardíaco, hepatoesplenomegalia, manifestações periféricas (hemorragias subungueais), sinais de insuficiência cardíaca (dispneia, edema, taquicardia e taquipneia) anemia (hemoglobina < 11,5 g/dL), leucocitose (leucócitos > 5000 por mm³), proteína C reativa elevada (> 3 mg/L), função renal alterada (ureia > 40 mg/dL e/ou creatinina > 0,9 mg/dL), hemocultura (positiva ou negativa), ecocardiograma transtorácico (com ou sem achados de endocardite), sítio da endocardite, agentes patogênicos, complicações (embolização sistêmica, IC, abscessos, aneurismas) e óbito. As variáveis contínuas foram descritas através da média (±) do desvio padrão e variáveis categóricas como proporções. Embolização sistêmica e óbito foram as variáveis dependentes; avaliou-se a associação entre a primeira variável dependente e as variáveis: cardiopatia prévia, cardiopatia cianogênica, cardiopatia acianogênica, hemocultura, agentes etiológicos e IC. Quanto à variável dependente, óbito, foi avaliada: a associação com cardiopatia prévia, cardiopatia cianogênica, cardiopatia acianogênica, cirurgia prévia, sinais de IC, hemocultura, agentes etiológicos, ecocardiograma transtorácico, sítio da endocardite (valva nativa, prótese valvar ou ponta de cateter), embolização e indicação cirúrgica.
Para a análise inferencial bivariada, as variáveis categóricas foram comparadas através do teste do qui-quadrado, de Pearson. Todos os testes foram bicaudados e considerados, estatisticamente, significantes resultados com valores de p < 0,05. Os dados coletados dos prontuários dos pacientes foram incluídos na ficha de registro e, posteriormente, digitados e analisados com auxílio do software Statistical Package for Social Sciences (versão 20.0 para Windows, SPSS, Chicago, IL, USA). O projeto de pesquisa foi devidamente apresentado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do hospital terciário, no qual o estudo foi realizado.
No período compreendido entre 2010 e 2016, foram selecionados 31 pacientes com diagnóstico de EI, compatíveis com os critérios de inclusão do estudo. Com relação ao sexo, 61,3% dos pacientes eram do sexo masculino e 38,7% do sexo feminino. A maioria dos pacientes era natural (61,3%) e procedente de cidades do interior do estado da Bahia (67,7%). A idade
dos pacientes, em anos, variou de 0,12 a 17,56, com média e desvio padrão de 8,48 ± 6,38, e mediana de 10. Toda a população estudada apresentou alguma cardiopatia prévia e 23 pacientes (74,2 %) tiveram acesso venoso anteriormente à admissão hospitalar. A cardiopatia congênita se mostrou mais frequente que a adquirida, com 23 (74,2%) e oito (25,8%) casos, respectivamente. Entre as cardiopatias congênitas, as cianogênicas corresponderam a 13 casos (56,5%), enquanto as acianogênicas corresponderam a 10 (43,5%). Entre as cardiopatias congênitas, a Tetralogia de Fallot correspondeu à maioria dos casos, com uma proporção de 22,6%.
Com relação aos dados clínicos, a maioria dos pacientes apresentou febre, sopro cardíaco sistólico e hepatoesplenomegalia. Sinais mais específicos de EI, como manchas de Roth, lesões de Janeway e nódulos de Osler, não foram registrados. A partir dos exames complementares realizados, a maioria dos pacientes apresentou anemia, leucocitose, proteína C reativa elevada, hemocultura positiva e vegetações visíveis por meio do ecocardiograma transtorácico (Tabela 1).
Tabela 1 – Distribuição dos dados clínicos e laboratoriais de pacientes com endocardite infecciosa. Salvador, Bahia, Brasil – 2017
Fonte: Elaboração própria.
a Temperatura axilar > 38ºC.
b Dispneia, tosse, edema.
c Hemoglobina < 11,5 g/dL.
d Leucócitos > 5000 por mm³.
e Proteína C reativa elevada > 3 mg/L.
Ureia > 40 mg/dL e/ou creatinina > 0,9 mg/dL.
IC., insuficiência cardíaca; PCR., proteína C reativa; ECO TT., ecocardiograma transtorácico.
Na população estudada, 14 indivíduos (45,2%) realizaram cirurgia anteriormente ao diagnóstico de EI; dentre esses casos, seis (42,9%) apresentaram EI pós cirurgia precoce (até 6 meses após a cirurgia) e oito (57,1%) apresentaram EI pós cirurgia tardia. Dentre os 17 pacientes que apresentaram hemocultura positiva, três (18%) apresentaram infecção exclusivamente por Gram +; seis (35%) por Gram -; dois (12%) por fungos; e oito (47%) por mais de um patógeno associado. Em relação à frequência dos agentes etiológicos, os mais frequentes foram os dos gêneros Pseudomonas e Candida, cada um presente em 23,5% da população estudada (Tabela 2).
Tabela 2 – Frequência dos agentes etiológicos em pacientes com endocardite infecciosa e hemocultura positiva a. Salvador, Bahia, Brasil – 2017
Variáveis Frequência (n = 17) Percentagem (%)
Fonte: Elaboração própria. a Entre os 17 pacientes que apresentaram hemocultura positiva, oito apresentaram associação entre mais de um patógeno.
Dos 26 indivíduos que apresentaram vegetações visíveis no ecocardiograma, 22 (71 %) apresentaram EI em valva nativa; dois (6,4%) em prótese valvar; e sete (22,6%) em ponta de cateter. Em relação aos sítios da endocardite, 10 indivíduos (38,4%) apresentaram vegetações na valva aórtica; cinco (19,2%) na valva mitral; três (11,5%) na valva pulmonar; três (11,5%) na valva tricúspide; quatro (15,4%) no átrio direito; um (3,8%) no ventrículo direito; e dois (7,7%) na desembocadura da veia cava superior. Dois indivíduos (7,7%) apresentaram concomitância entre mais de um sítio de EI.
Durante as internações, 12 pacientes (38,7%) evoluíram com complicações, sendo a embolização sistêmica a mais frequente, presente em sete casos (22,6%). Seis casos (19,4%) evoluíram com insuficiência cardíaca, quatro (12,9%) com abscesso e três (9,7%) com aneurisma. Quatro casos (12,9%) apresentaram associação entre mais de uma complicação. Na população estudada, 17 pacientes (54,8%) tiveram indicação cirúrgica para remoção das vegetações e cinco (16,1%) dos pacientes foram a óbito.
Sobre a embolização sistêmica, os pacientes com cardiopatia adquirida e infecção, por Gram negativos e fungos, se mostraram mais propensos a desenvolverem essa complicação; contudo, essas associações não se mostraram estatisticamente significantes
(Tabela 3). Quando relacionadas ao óbito, as variáveis preditoras, prótese valvar como sítio da endocardite e embolização, se mostraram estatisticamente significantes, com valores de p = 0,001 e p = 0,029, respectivamente. Observou-se uma maior propensão dos pacientes com sinais de insuficiência cardíaca e infecção por Gram negativos, apesar dessa associação não ter se mostrado estatisticamente significante (Tabela 4).
Tabela 3 – Associações entre variáveis categóricas e embolização em pacientes com diagnóstico de endocardite infecciosa. Salvador , Bahia, Brasil – 2017
IC., Insuficiência cardíaca.
Tabela 4 – Associações entre variáveis categóricas e óbito em pacientes com diagnóstico de endocardite infecciosa. Salvador, Bahia, Brasil – 2017
Tabela 4 – Associações entre variáveis categóricas e óbito em pacientes com diagnóstico de endocardite infecciosa. Salvador, Bahia, Brasil – 2017 (conclusão)
Fonte: Elaboração própria.
a Teste do qui-quadrado de Pearson.
b Presença de vegetações visíveis ao ecocardiograma transtorácico.
CC., cardiopatia congênita; IC., Insuficiência cardíaca; ECO TT., ecocardiograma transtorácico.
Neste estudo, encontramos maior frequência de EI no sexo masculino, o que se encontra de acordo com a literatura existente6,12,17,18. A média de idade encontrada foi de 8,48 ± 6,38, semelhante à média relatada por outros pesquisadores12,17. Nas últimas décadas, um número cada vez maior de EI em pacientes sem doença cardíaca subjacente tem sido observado, o que é explicado pela mudança nos fatores de risco da EI1-4,7,8,12,13. Entretanto, todos os pacientes deste estudo apresentaram cardiopatia prévia, o que se encontra de acordo com um estudo realizado na Etiópia22. Esse fato é explicado pelo caráter da instituição como centro de referência no atendimento às crianças cardiopatas.
Entre os pacientes que apresentaram cardiopatia prévia, a cardiopatia congênita esteve presente na maioria dos casos; o que se encontra de acordo com estudos anteriores, que trazem a cardiopatia congênita como o principal fator de risco para o desenvolvimento de EI na atualidade1-3,11,23-25
A cardiopatia adquirida esteve presente em 25,8% dos pacientes, sendo todos os casos de cardiopatia reumática. Estima-se que a prevalência de cardiopatia reumática nos pacientes com EI vem diminuindo, apesar disso, neste estudo foi demonstrada uma percentagem elevada dessa doença, se comparada à presente em outros estudos, principalmente realizados em países desenvolvidos13,24,26. Países em desenvolvimento ainda apresentam altos índices de cardiopatia reumática, não só associada à EI, mas também como doença isolada22.
A literatura mostra que, dentre os pacientes com cardiopatia congênita que desenvolvem EI, a maioria deles apresenta cardiopatia cianogênica, sendo a principal a Tetralogia de Fallot, o que é confirmado por esse estudo2,11,26 Muitos pacientes tiveram acesso venoso anteriormente ao diagnóstico de EI. Os estudos mostram acesso venoso central como fator de risco atual para o desenvolvimento de EI1-3,11, entretanto, os dados disponíveis para este estudo não mostravam a distinção da proporção entre acesso venoso periférico e central.
Em relação às manifestações clínicas, a maioria dos pacientes apresentou febre, sopro cardíaco e hepatoesplenomegalia. Em diversos estudos, a febre também foi o principal sintoma associado à EI12,17,18,23-25,27,28. Outros trabalhos mostram proporção semelhante à encontrada neste estudo de sopro cardíaco e hepatoesplenomegalia18,23-25,27,28
A literatura traz a cirurgia cardíaca prévia como um fator de risco isolado para o desenvolvimento de EI3,11,14, e o presente estudo mostrou que 45,2% dos indivíduos encontravam-se nessa situação. Essa taxa encontrada é muito semelhante à apresentada em um estudo realizado na Itália24, podendo ser explicada pela alta prevalência de pacientes com cardiopatia congênita, que precisam ser submetidos ao procedimento cirúrgico de correção ou paliação e que se encontram em risco para desenvolver EI. A maioria dos pacientes apresentou anemia, PCR elevada, leucocitose e elevação de ureia e creatinina, o que se encontra de acordo com a literatura existente27.
Segundo os critérios de Duke, os dois principais exames complementares para o diagnóstico de EI são: ecocardiograma e a hemocultura15 O ecocardiograma transtorácico é o mais utilizado na população pediátrica, e o presente estudo mostrou que 83,9% dos pacientes com EI apresentaram achados ecocardiográficos compatíveis com o diagnóstico da doença (vegetação, abscesso ou pseudoaneurisma)3,16,19,20. A sensibilidade deste exame foi estimada entre 59% e 70%, contudo, alguns estudos apresentaram taxas ainda maiores de achados ecocardiográficos compatíveis com EI, como um estudo realizado aqui no Brasil que mostrou índices de 100%23
A hemocultura foi positiva em 54,8% dos casos, o que vai contra a maior parte da literatura, que aponta taxas de até 90% de positividade para os principais agentes patogênicos da EI20. Todavia, outros estudos também demonstraram valores de hemocultura positiva semelhantes aos demonstrados, inclusive um estudo realizado aqui no Brasil23,25,27. O uso de antibióticos, em período anterior e concomitante à coleta de sangue, a presença de microrganismos de difícil proliferação e a existência de técnicas microbiológicas ainda defasadas, se comparadas às existentes em países desenvolvidos, são fatores que podem explicar a alta taxa encontrada de hemoculturas negativas1,3.
Com relação aos agentes patogênicos, a maioria dos pacientes apresentou infecção por mais de um agente e isoladamente por bactérias Gram negativas. Apesar da literatura documentar um aumento da incidência de agentes atípicos, como bactérias Gram negativas e fungos13,18, o percentual encontrado neste estudo foi elevado em relação a outros estudos, que demonstram que estreptococos e estafilococos são os agentes patogênicos mais prevalentes nos casos de EI1-3,16,20
Nenhum paciente apresentou infecção por microrganismos do grupo HacekHACEK, amplamente associados à EI, o que reflete as limitações de microbiologia que enfrentamos em nosso meio. O perfil microbiológico, encontrado neste estudo, pode estar associado ao desenvolvimento nosocomial ou pós-cirúrgico da EI, nos casos relatados, além da utilização de acessos venosos centrais.
Este estudo demonstrou que o sítio de endocardite geral foi, na maior parte dos casos, a valva nativa, seguida por ponta de cateter e por prótese valvar. Ao se observar o sítio de EI específico, a valva aórtica foi a mais acometida, seguida pela valva mitral, e percentuais semelhantes foram encontrados por outros autores25,27,29
Durante as internações, 38,7% dos pacientes evoluíram com complicações, e esse percentual é semelhante ao descrito por outros autores18,28. A literatura mostra que a embolização sistêmica é a complicação mais comum da EI em crianças3,9, o que também foi demonstrado neste trabalho. A segunda complicação mais comum foi a IC, o que está em consonância com o apresentado em um estudo realizado nos Estados Unidos18.
A cirurgia foi indicada como tratamento de EI em 54,8% dos pacientes, e esse dado foi de encontro as estatísticas já documentadas em outros estudos26. O fato de grande parte dos pacientes ter cardiopatia congênita, pode explicar essa questão, visto que não houve distinção na documentação entre indicação cirúrgica exclusiva para o tratamento de EI, e para correção de cardiopatia congênita ou eventuais defeitos residuais de uma cirurgia prévia.
A mortalidade encontrada foi de 16,1%, o que mostra que a endocardite, apesar de apresentar baixa incidência, é extremamente letal na população pediátrica. Diversos estudos mostraram percentuais de mortalidade extremamente semelhantes aos encontrados neste trabalho6,12,17,28. Este estudo demonstrou que EI em prótese valvar e embolização sistêmica, são fatores preditores de mortalidade. Outros fatores preditores de mortalidade, já descritos na literatura, como cardiopatia congênita concomitante, idade menor que 1 ano e infecção por S. aureus30, não se mostraram significativos neste trabalho.
As limitações deste estudo foram seu caráter retrospectivo, que limitou a busca de dados ausentes nos registros dos pacientes, o número reduzido da amostra limítrofe e o caráter de amostra de conveniência, o que leva a população estudada a não ser representante da população geral. Muitos dados avaliados também estiveram ausentes nos registros. Além disso, fatores de risco para EI, como saúde bucal e higiene dental, que podem ser importantes fontes de bacteremia diária, não estiveram disponíveis.
Como o local de estudo é um centro de referência para cardiologia pediátrica, nossos achados podem não ser generalizados para toda a população pediátrica. Logo, há necessidade de realização de um estudo prospectivo, com análises multivariadas e, preferencialmente, multicêntrico, para que haja maior demonstração de significância estatística das variáveis que mostraram relevância clínica.
Concluindo, este estudo mostrou que a maioria dos indivíduos com EI são do sexo masculino e proveniente do interior do Estado. A presença de cardiopatia prévia se mostrou como o maior fator predisponente para a doença, especialmente entre os pacientes portadores de cardiopatia congênita e doença valvar reumática crônica. O ecocardiograma transtorácico se mostrou exame complementar sensível para o diagnóstico de EI, ao contrário da hemocultura. O perfil de agentes patogênicos de EI se mostrou atípico, com alta incidência de bactérias Gram negativas e fungos. O sítio da EI em prótese valvar e a embolização sistêmica, foram fatores preditores de mortalidade, que se mostrou elevada. Logo, a partir dos resultados apresentados, espera-se que os Serviços de Cardiologia Pediátrica possam dedicar uma maior atenção aos pacientes com cardiopatia reumática, ainda muito prevalente em nossa população, e aos indivíduos com prótese valvar, para a prevenção e reconhecimento precoce da EI, o que poderá ajudar na redução de mortalidade.
1. Concepção do projeto, análise e interpretação de dados: Amanda Portela e Isabel Guimarães
2. Redação do artigo e revisão crítica relevante do conteúdo intelectual: Amanda Portela e Isabel Guimarães
3. Revisão e/ou aprovação final da versão a ser publicada: Amanda Portela e Isabel Guimarães
4. Ser responsável por todos os aspectos do trabalho na garantia da exatidão e integridade de qualquer parte da obra: Amanda Portela e Isabel Guimarães
1. Bashore TM, Cabell C, Fowler V. Update on infective endocarditis. Curr Probl Cardiol. 2006;31(4):274-352.
2. Elder RW, Baltimore RS. The Changing Epidemiology of Pediatric Endocarditis. Infect Dis Clin. 2015;29:513-24.
3. Baddour LM, Beerman LB, Jackson MA, Lockhart PB, Pahl E, Schutze GE, et al. Infective Endocarditis in Childhood : 2015 Update. Circ Res. 2015;1487-515.
4. Day M, Gauvreau K, Shulman S, Newburger JW. Characteristics of children hospitalized with infective endocarditis. Circulation. 2009;119(6):865-70.
5. Abdulhak AAB, Baddour LM, Erwin PJ, Hoen B, Chu VH, mensag GA. Global and Regional Burden of Infective Endocarditis, 1990-2010. Glob Heart. 2014;9(1):131-43.
6. Van Hare GF, Ben-Shachar G, Liebman J, Boxerbaum B, Reimenschneider TA. Infective endocarditis in infants and children during the past 10 years: A decade of change. Am Heart J. 1984;107(6):1235-40.
7. Bates KE, Hall M, Shah SS, Hill KD, Pasquali SK. Original Article Trends in infective endocarditis hospitalisations at United States children’s hospitals from 2003 to 2014: impact of the 2007 American Heart Association antibiotic prophylaxis guidelines. Cardiology in the young. Cambridge University Press 2016;27(4):686-90.
8. Pant S, Patel NJ, Patel N, Badheka A, Mehta JL, D Abhishek. Trends in Infective Endocarditis Incidence, Microbiology, and Valve Replacement in the United States From 2000 to 2011. J Am Coll Cardiol. 2015;65(19):2070-6.
9. Zakrzewski T, Keith JD. Bacterial Endocarditis in Infants and Children. J Pediatr. 1965;67(6):1179-93.
10. Condon JR, Ralph AP. Long-Term Outcomes Acute Rheumatic Fever and Rheumatic Heart Disease. Circ Res. 2016;134(3)222-32.
11. Rushani D, Kaufman JS, Ionescu-Ittu R, Mackie AS, Pilote L, Therrien J, et al. Infective endocarditis in children with congenital heart disease: Cumulative incidence and predictors. Circ Res. 2013;128(13):1412-9.
12. Martin JM, Neches WH, Wald ER. Infective Endocarditis: 35 Years of Experience at a Children’s Hospital. Clin Infect Dis. 1997;24(4):669-75.
13. Rosenthal LB, Feja KN, Levasseur SM, Alba LR, Gersony W, Saiman L. The Changing Epidemiology of Pediatric Endocarditis at a Children’s Hospital Over Seven Decades. Pediatr Cardiol. 2010;31:813-20.
14. Kaye, D. Changing pattern of infective endocarditis. Am J Med. 1985; 78(6):157-62.
15. Stockheim JA, Chadwick EG, Kessler S, Amer M, Abdel-Haq N, Dajani AS, et al. Are the Duke criteria superior to the Beth Israel criteria for the diagnosis of infective endocarditis in children? Clin Infect Dis. 1998;27(6):1451-6.
16. Saiman L, Prince A, Gersony WM. Pediatric infective endocarditis in the modern era. J Pediatr. 1993;122(6):847-53.
17. Lin YT, Hsieh KS, Chen YS, Huang IF, Cheng MF. Infective endocarditis in children without underlying heart disease. J Microbiol Immunol Infect. 2013;46(2):121-8.
18. Marom D, Ashkenazi S, Samra Z, Birk E. Infective endocarditis in previously healthy children with structurally normal hearts. Pediatr Cardiol. 2013;34(6):1415-21.
19. Habib G, Lancellotti P, Antunes MJ, Bongiorni MG, Casalta JP, Del Zotti F, et al. 2015 ESC Guidelines for the management of infective endocarditis: The Task Force for the Management of Infective Endocarditis of the European Society of Cardiology ( ESC ) Endorsed by : European Association for Cardio-Thoracic Surgery. Eur Heart J. 2015;36(44):3075-128.
20. Moreillon P, Que Y-A. Infective endocarditis. Lancet. 2004;363(9403):139-49.
21. González-melchor L, Kimura-hayama E, Díaz-zamudio M, Higuera-Calleja J, Choque C, Soto-Nieto GI. In-hospital mortality risk factors for patients with cerebral vascular events in infectious endocarditis. A correlative study of clinical, echocardiographic, microbiologic and neuroimaging findings. Arch Cardiol Mex. 2015;85(3):195-200.
22. Moges T, Gedlu E, Isaakidis P, Kumar A, Van Den Berge R, Khogali M, et al. Infective endocarditis in Ethiopian children: a hospital based review of cases in Addis Ababa. Pan Afr Med J. 2015;20(75):1-10.
23. Pereira CAZ, Rocio SCGP, Ceolin MFR, Lima APNB, Borlot F, Pereira RST, et al. Clinical and laboratory findings in a series of cases of infective endocarditis. J Pediatr. 2003;79(5):423-8.
24. Esposito S, Mayer A, Krzysztofiak A, Garazzino S, Lipreri R, Galli L, et al. Expert Review of Anti-infective Therapy Infective Endocarditis in Children in Italy from 2000 to 2015. Expert Rev Ant Infect Ther. 2016;14(3):1-17.
25. Wang W, Sun H, Lv J, Tian J. Retrospective Studies on Pediatric Infective Endocarditis over 40 Years in a Mid-West Area of China. Cardiology. 2014;128(2):88-91.
26. Akinosoglou K, Apostolakis E, Koutsogiannis N, Leivaditis V, Gogos CA. Rightsided infective endocarditis: surgical management. Eur J Cardiothorac Surg. 2012;42:470-9.
27. Sadiq M, Nazir M, Sheikh SA. Infective endocarditis in children–incidence, pattern, diagnosis and management in a developing country. Int J Cardiol. 2001;78(2):175-82.
28. Webb R, Voss L, Roberts S, Hornung T, Rumball E, Lennon D. Infective Endocarditis in New Zealand Children 1994–2012. Pediatr Infect Dis J. 2014;33(5):437-42.
29. Hospital AZ, Ahmadi A, Daryushi H. Infective endocarditis in children: A 5 year experience from Al-Zahra Hospital, Isfahan, Iran. Adv Biomed Res. 2014;3(228):1-5.
30. Tseng WC, Chiu SN, Chen CA, Wu MH, Shao PL, Wang JK, et al. Changing Spectrum of Infective Endocarditis in Children. A 30 Years Experiences from a Tertiary Care Center in Taiwan. Pediatr Infect Dis J. 2014;33(5):467-71.
Recebido: 1.4.2018. Aprovado: 14.5.2022.
DOI: 10.22278/2318-2660.2020.v44.n4.a2782
Hassyla Maria de Carvalho Bezerraa
https://orcid.org/0000-0003-1673-9259
Michelle Christini Araújo Vieirab
http://orcid.org/0000-0001-7771-5387
Margaret Olinda Lirac
https://orcid.org/0000-0003-0309-8499
Claudelí Misturad
https://orcid.org/0000-0002-4445-7825
Jonatan Willian Sobral Barros da Silvae
https://orcid.org/0000-0002-5640-8481
Bruna Stammf
https://orcid.org/0000-0003-4858-7712
Resumo
O conhecimento do perfil populacional, com suas características demográficas, sociais, econômicas e epidemiológicas, é importante para elaboração e avaliação da efetividade de políticas públicas, auxiliando também no planejamento, dimensionamento das demandas por serviços e destinação de recursos financeiros. Dessa forma, este estudo teve como objetivo analisar o perfil socioeconômico, demográfico e epidemiológico da população do município de Feira de Santana (BA). Trata-se de um estudo ecológico que
a Enfermeira. Mestre em Saúde Pública. Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, Brasil. E-mail: hassyla@gmail.com
b Enfermeira. Doutora em Saúde Pública. Docente da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Petrolina, Pernambuco, Brasil. E-mail: michelle.christini@univasf.edu.br
c Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Docente da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Petrolina, Pernambuco, Brasil. E-mail: margaret.olinda@univasf.edu.br
d Enfermeira. Doutoranda em Ensino pela Universidade Vale do Taquari (Univates). Lajeado, Rio Grande do Sul, Brasil. E-mail: claumistura@gmai.com
e Enfermeiro. Mestre em Saúde Pública. Gestor da Atenção Ambulatorial da Secretaria de Saúde do Recife. Recife, Pernambuco, Brasil. E-mail: jonatanwillian22@hotmail.com
f Enfermeira. Doutoranda em Enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Docente da Universidade Federal do Pampa. Uruguaiana, Rio Grande do Sul, Brasil. E-mail: brunastamm@unipampa.edu.br
Endereço para correspondência: Rua João Fragoso de Medeiros, n. 4465, Candeias. Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, Brasil. CEP: 54430-250. E-mail: hassyla@gmail.com
utilizou dados secundários de domínio público, referentes ao período de janeiro de 2000 a dezembro de 2019. As análises dos dados foram descritivas, mediante cálculo dos indicadores, distribuição de frequências e percentuais, com organização dos resultados em tabelas e gráficos, comparando-os com a literatura específica. Os resultados apresentaram que a cobertura de esgotamento sanitário foi inferior a 50% dos domicílios. Do total de estabelecimentos de saúde existentes, 71% eram da rede privada. A principal causa de morbidade foram as doenças do aparelho digestivo. As causas mal definidas constituíram a principal causa de mortalidade. Destaca-se a importância da qualificação e corresponsabilização das equipes de saúde para a relevância da notificação e preenchimento de informações referentes à construção dos indicadores de saúde, que devem representar a realidade do município, intensificando, assim, as ações de vigilância em saúde.
Palavras-chave: População. Perfil de saúde. Morbidade. Mortalidade.
Abstract
Knowledge of the population profile, covering its demographic, social, economic, and epidemiological characteristics, is crucial for elaborating and evaluating the effectiveness of public policies, and in planning and sizing demands for services and allocation of financial resources. As such, this ecological study analyzes the socioeconomic, demographic and epidemiological profile of the population of Feira de Santana, Bahia, Brazil. The public domain secondary data collected from January 2000 to December 2019 underwent descriptive analysis, by calculating indicators, frequencies and percentage distributions. Results were organized in tables and charts and later compared with the specific literature. The findings showed that less than 50% of the households have sanitary sewage. Of the total number of healthcare facilities, 71% were private. Main cause of morbidity were digestive tract diseases. Poorly defined causes were the leading cause of mortality. In conclusion, health teams must be qualified and sensitize to the relevance of notifying and filling in information related to the construction of health indicators, which should represent the reality of the municipality, thus improving health surveillance actions.
Keywords: Population. Health profile. Morbidity. Mortality.
El conocimiento del perfil de la población, con sus características demográficas, sociales, económicas y epidemiológicas es importante para el desarrollo y la evaluación de la efectividad de políticas públicas, asistiendo también en la planificación, dimensionamiento de las demandas de servicios y la asignación de recursos financieros. Así, este estudio tuvo como objetivo analizar el perfil económico, demográfico, epidemiológico de la población de la ciudad de Feria de Santana, en Bahía, Brasil. Se Trata de un estudio ecológico, que utilizó datos secundarios de dominio público, referente al período de enero de 2000 a diciembre de 2019. El análisis de los datos fue descriptivo mediante el cálculo de los indicadores, de distribución de la frecuencia y el porcentaje, con la organización de los resultados en tablas y gráficos, comparándolos con la literatura específica. Los resultados mostraron que la cobertura de aguas residuales era inferior al 50% de los hogares. De todos los establecimientos de salud existentes, el 71% eran de la red privada. La principal causa de morbilidad fue las enfermedades del sistema digestivo. Las causas mal definidas fueron la principal causa de mortalidad. Se destaca la importancia de calificar a los equipos de salud para que sean conscientes de la importancia de la notificación y la presentación de información relativa a la construcción de los indicadores de salud, que deben representar la realidad de la ciudad, mejorando así las acciones de vigilancia sanitaria.
Palabras clave: Población. Perfil de salud. Morbilidad. Mortalidad.
A transição demográfica e epidemiológica das últimas décadas vem modificando o perfil da população brasileira, caracterizado pela redução das taxas de fecundidade, natalidade e mortalidade, diminuição das doenças infecciosas e parasitárias, aumento da expectativa de vida e consequente envelhecimento populacional. Essa mudança também tem contribuído para o desenvolvimento das doenças crônicas, condição que desperta para a priorização das necessidades de saúde do crescente número de pessoas idosas1,2
Tem sido notória a melhoria das condições de saúde da população, proporcionada pela implantação do Sistema Único de Saúde (SUS), na qual a saúde passou a ser direito de cidadania e dever do Estado, por meio de uma rede hierarquizada, regionalizada, com
descentralização em cada esfera de governo e participação social3. Com a implantação do SUS, diferentes Sistemas de Informação em Saúde (SIS) foram criados na perspectiva de facilitar o atendimento às demandas de saúde da população, sendo utilizados como ferramentas que transformam dados em informação para auxiliar o planejamento, a organização, a operação e a avaliação dos serviços de saúde, embasados nas necessidades de determinada população4,5 Nessa direção, os SIS revelam a demanda da população por meio de indicadores de saúde – sendo estes medidas-síntese – com informações relevantes que facilitam a quantificação e a avaliação das informações produzidas, subsidiando análises objetivas da situação sanitária, direcionando a tomada de decisão baseada em evidências e a elaboração de políticas públicas, programas e ações de saúde4
A escolha de indicadores de saúde depende do objetivo a ser alcançado e do tipo de decisão que se pretende apoiar, de modo que os indicadores básicos de dada população incluem dados de mortalidade, morbidade, demográficos, socioeconômicos e ambientais. Isso possibilita avaliar o impacto sobre a situação de saúde, considerando as respostas produzidas pelo Sistema de Saúde e as geradas por setores como educação e saneamento básico 4,6 .
Nesse sentido, conhecer o perfil populacional, com suas características demográficas, sociais, econômicas e epidemiológicas, é importante para o planejamento do desenvolvimento e dimensionamento das demandas por serviços, destinação de recursos financeiros, elaboração de políticas públicas e na avaliação da efetividade das ações de promoção, prevenção e assistência. Desta forma, os investimentos públicos serão realizados atendendo as necessidades de saúde da população5,7. Assim, o presente estudo teve como objetivo, analisar o perfil socioeconômico, demográfico e epidemiológico do município de Feira de Santana (BA).
Trata-se de um estudo ecológico, descritivo, em que se utilizaram dados secundários de domínio público do município de Feira de Santana (BA). Dados secundários são constituídos por informações previamente existentes, através das quais o pesquisador analisa estatísticas oficiais, não oficiais ou dados coletados por outro pesquisador8. Foram utilizados dados disponíveis do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referentes ao período de janeiro de 2000 a dezembro de 2019. O período escolhido refere-se aos anos integralmente disponibilizados nas páginas eletrônicas do Datasus e IBGE.
O município de Feira de Santana (BA), situado a leste do estado da Bahia, com uma população de 614.872 habitantes, constitui um importante eixo rodoviário e centro regional de passagem de pessoas e transporte de produtos que interliga as regiões Norte e Nordeste às regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Sobressai-se, também, como centro econômico e comercial do estado da Bahia, que abastece um número representativo de cidades da microrregião, cujo produto interno bruto (PIB) equivale a R$ 14.898.191 bilhões. Além disso, o grande rebanho bovino constitui outra atividade econômica relevante9,10.
A coleta de dados incluiu as seguintes variáveis para o cálculo dos indicadores: população por sexo e faixa etária (proporção da população por sexo e faixa etária); abastecimento de água, coleta de lixo e esgotamento sanitário (proporção da população atendida por serviços de água, coleta de lixo e esgotamento sanitário); escolaridade (proporção de alfabetizados da população acima de 15 anos, taxa de analfabetismo); estabelecimentos de saúde (cobertura de serviços de saúde); Produto Interno Bruto (PIB); Índice de Desenvolvimento Humano (IDH); renda média domiciliar per capita; Índice de Gine; nascidos vivos (coeficiente de natalidade geral); morbidade (coeficiente de morbidade específica por causas selecionadas) e mortalidade (coeficiente de mortalidade geral e por grupos de causas selecionadas).
A organização, tabulação e sumarização dos dados foram realizadas no Microsoft Excel 2010. As análises dos dados foram descritivas mediante cálculo dos indicadores (Quadro 1), distribuição de frequências e percentuais, com a utilização de duas casas decimais. A organização dos resultados foi realizada em tabelas e gráficos, comparando-os com a literatura específica.
Quadro 1 – Indicadores de saúde analisados. Feira de Santana, Bahia, Brasil – 2020
Indicador Método de cálculo
Coeficiente de natalidade geral (CNG)
Coeficiente de mortalidade geral (CMG)
Coeficiente de morbidade específica por causas selecionadas
Coeficiente de mortalidade específica por causa por causas selecionadas
Fonte: Rouquayrol e Almeida Filho8
Número de nascidos vivos numa área do ano
___________________________________ x 1.000 População da área ajustada para o meio do ano
Total de óbitos registrados em certa área durante o ano
________________________________________x 1.000 População da área ajustada para o meio do ano
Número de internamentos por determinada causa ocorridos na população numa determinada área do ano
________________________________________x 100. 000 População da área ajustada para o meio do ano
Número de óbitos por determinada causa ocorridos na população numa determinada área do ano ________________________________________x 100.000
População da área ajustada para o meio do ano
Quanto ao período do estudo utilizado (2000-2019), alguns dados dos indicadores não se referem ao período completo, por ainda não estarem disponíveis no Datasus e IBGE. Os dados, no item que retrata os estabelecimentos de saúde, corresponderam a partir de 2005, devido aos anos anteriores não estarem disponíveis.
A pesquisa seguiu as normas estabelecidas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, que estabelece diretrizes e normas que regulamentam pesquisas envolvendo seres humanos. Porém, por se tratar de um estudo com dados secundários de domínio público, não se julgou necessário a submissão do projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa.
Com uma população eminentemente urbana no ano 2000, dos 480.949 habitantes do município, 90% eram residentes na zona urbana e 10% na zona rural. 52 % eram mulheres e 48% homens. Em 2010, o número de habitantes elevou para 556.642, sendo 92% residentes na área urbana e 8% na área rural. Quanto ao sexo, 292.643 (53%) eram mulheres e 263.999 (47%) eram homens, de acordo com o último censo (2010). A população estimada para 2019 foi de 614.872 habitantes. O município teve um crescimento populacional de 28% no período.
Quanto à distribuição da população por sexo, o número de mulheres foi discretamente maior do que o de homens. Comparando as pirâmides etárias dos anos 2000 e 2010, percebe-se que houve uma diminuição populacional na sua base, seguida de um alargamento, representado pela diminuição do percentual de crianças e jovens e aumento do percentual de idosos e adultos (Gráfico 1).
Gráfico 1 – Distribuição da população por sexo segundo os grupos de idade. Feira de Santana, Bahia, Brasil – 2000 e 2010
O PIB do município passou de R$ 1.702.498 bilhão em 2000, para R$ 14.898.191
bilhões em 2019 – com um aumento considerável –, ou seja, houve um crescimento econômico significativo no período. Apresentou IDH 0,585 em 2000, passando para 0,712 em 201015
A renda média domiciliar per capita foi de R$ 407,25 em 2000 e 646,63 em 2010. O índice de Geni era 0,617 em 2000 e 0,600 em 20199-13
O percentual da população atendida por serviços de esgotamento sanitário no município foi inferior à população beneficiada por abastecimento de água e coleta de lixo. No entanto, houve um aumento gradativo no acesso ao esgotamento sanitário, passando de 27,9% em 2000 para 42,80% em 2015 (Tabela 1).
Tabela 1 – Famílias cobertas com serviços de abastecimento de água, coleta de lixo e esgotamento sanitário. Feira de Santana, Bahia, Brasil – 2000, 2005, 2010, 2015
Em 2000, a proporção de alfabetizados da população acima de 15 anos no município correspondeu a 87% (n = 290.751) e em 2010 foi de 91% (n = 384.003).
Com taxa de analfabetismo de 13% (n = 42.377) em 2000 e 9% (n = 36.787) em 2010. A taxa de analfabetismo por sexo em 2010 foi de 8,64% na população masculina e 8,80% na feminina. Na população urbana, correspondeu a 7,44% e na rural a 23,70% em 201010,12,13
Os estabelecimentos de saúde, no município, entre os anos de 2005 e 2019, tiveram um aumento de 224%. Os serviços privados cresceram 262%, enquanto os públicos 164%. A oferta de serviços na Atenção Primária de Saúde (APS) aumentou 60% (de 2005 a 2019), porém o percentual de cobertura da população por equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) foi de 51%. Em 2019, enquanto os estabelecimentos públicos corresponderam a 29% do total, os privados corresponderam a 71%, o que mostra a prevalência de serviços privados (Tabela 2).
O coeficiente de natalidade do município de Feira de Santana (BA) em 2000 foi 21,53/1000 habitantes, com redução de 5,57 no período de 19 anos (15,96/1000 habitantes em 2019). Destaca-se, assim, uma importante diminuição, que ratifica o estreitamento da base da pirâmide etária em 2014, referida anteriormente11.
Tabela 2 – Quantidade de serviços por tipo de estabelecimento e tipo de prestador.
– 2005, 2010, 2015 e 2019
De 2000 a 2019, a principal causa de morbidade foram as doenças do aparelho digestivo. No ano 2000, as doenças do aparelho geniturinário constituíram as principais causas de morbidade (686.50/100.000 habitantes). Já 2019 apresentou as neoplasias como principais causas de adoecimento (543.37/100.000) (Tabela 3).
Fonte: MS/Datasus-Morbidade Hospitalar do SUS (SIH/SUS)
*Coeficiente de morbidade específica por 1.000 habitantes
O Coeficiente de Mortalidade Geral (CMG) do município, em 2000, foi equivalente a 4.70/1000 habitantes. Observa-se que registrou uma elevação de 1.77 em 19 anos (6.47/1000 habitantes em 2019)11. As Causas Mal Definidas (CMD) se configuraram como a principal causa de óbitos no município entre os anos de 2000 (33.11/100.000 habitantes) a 2019 (85.71/100.000 habitantes). Em segundo lugar em 2000 foi o infarto agudo do miocárdio (32.29/100.000 habitantes), e em 2019 foi agressão por arma de fogo (39.03/100.000 habitantes) (Tabela 4).
Tabela 4 – Mortalidade por categoria CID-10. Feira de Santana, Bahia, Brasil – 2000, 2005, 2010, 2015 e 2019
A população, eminentemente urbana no município de Feira de Santana, está relacionada principalmente ao processo de industrialização que teve grande expansão nos anos de 1970 e motivou o fluxo migratório da área rural para a área urbana9,10. As modificações na pirâmide populacional, no período demonstrado – caracterizada pelo estreitamento da base, representado pela diminuição do percentual de jovens e aumento do percentual de idosos e adultos –, ocorreram devido ao aumento da expectativa de vida e diminuição da natalidade, nas últimas décadas1,2
Analisar a dinâmica demográfica tem sua importância para a revelação do impacto de elementos econômicos, sociopolíticos, culturais, ambientais e novas necessidades em saúde. Dessa maneira, compreender as tendências de distribuição da população é essencial para o planejamento, delineamento e elaboração de políticas públicas, assim evidenciando a necessidade de estruturação de serviços e de programas de saúde que possam responder às demandas apresentadas 2,14
As análises de pirâmides populacionais são importantes para entender em que estágio de transição demográfica se encontra determinado país, a fim de que as ações de saúde estejam de acordo com a realidade local. Quando a base da pirâmide populacional é larga e o ápice estreito, demonstra uma população bastante jovem. À medida que a taxa de natalidade
diminui, a base da pirâmide vai se estreitando, com tendência a forma retangular, passando a caracterizar uma população envelhecida2,14.
O estudo também revelou um elevado grau de desigualdade de renda, já que o índice de Gine apresenta dados entre zero e um, onde zero corresponde a uma completa igualdade na renda e um corresponde a uma completa desigualdade, ficando o município mais próximo de um. Assim, o notável crescimento do PIB e do IDH não evitou a desigualdade social demonstrada por esse indicador, assim como a baixa renda per capita apresentada6,15,16.
Quanto ao acesso aos serviços de saneamento básico, o Plano Nacional de Saneamento Básico17 estabeleceu metas para os anos de 2010, 2018, 2023 e 2033, para o percentual de domicílios totais abastecidos por água; percentual de domicílios totais servidos por esgotamento sanitário e percentual de domicílios urbanos atendidos por coleta de lixo. As metas alcançadas pelo município em 2015 foram, respectivamente: 82,6%, 42,8% e 85,3%, tendo atingido percentuais abaixo das metas estabelecidas para municípios da região nordeste no que tange abastecimento de água e esgotamento sanitário. Contudo, esteve dentro da meta estabelecida para coleta de lixo (85,3%).
Ressalta-se a importância do saneamento básico na prevenção de doenças infectoparasitárias, as quais expõem os indivíduos a um processo de agravamento das condições de saúde. Conforme a Lei nº 8.080/1990, que regulamenta o SUS. O saneamento básico está entre os fatores determinantes e condicionantes da saúde, com importância para a melhoria das condições de saúde da população18-20
Quanto à escolaridade, o município foi o segundo do estado com maior número de pessoas alfabetizadas e o 14º do Brasil em 2010. A taxa de analfabetismo ficou abaixo da média nacional de 9,4%, no respectivo ano. O Plano Nacional de Educação (PNE), de 2014 a 202421, determina diretrizes, metas e estratégias para a política educacional dos próximos dez anos, entre as quais: elevar a taxa de alfabetização da população acima de 15 anos para 93,5%, erradicação do analfabetismo absoluto até o final da vigência deste PNE, com redução da taxa de analfabetismo funcional em 50%.
Evidencia-se a necessidade de ampliação das coberturas de serviços públicos, principalmente da APS, cuja meta de cobertura populacional de 75%, estabelecida pelo Ministério da Saúde, não foi atingida pelo município, apresentando níveis inferiores. Quanto ao nível terciário de saúde, o município possui apenas um hospital, que devido ao crescimento populacional apresentado, não consegue suprir as necessidades da população, tornando-se necessário o convênio ou contratos com os serviços privados, sendo que muitas vezes há um gasto maior de recursos, quando comparado a serviços próprios e/ou públicos22,23.
A participação complementar da iniciativa privada no SUS, mediante contrato ou convênio, é permitida por lei quando a rede própria de serviços públicos for insuficiente. Entretanto, nos serviços de média e alta complexidade, e na produção de serviços de apoio ao diagnóstico e tratamento, o setor privado mostrou-se predominante, o que pode comprometer a assistência à saúde, já que o sistema privado possui valores e interesses contrários aos princípios do SUS, o que contrapõe a lógica de saúde como direito de cidadania 23-25 .
O município teve um número expressivo de internações em serviços da rede pública de saúde por causa externa que, tanto pode estar associado a circunstâncias econômicas e sociais, como também à redução de ocorrências em outras modalidades de causas externas. A taxa de mortalidade por causas externas, especificamente por agressão ou arma, em 2019 foi elevada, o que representa um desafio para as áreas de saúde e segurança pública. A violência se insere no contexto das relações sociais e seu estudo é essencial para o planejamento de ações no SUS, além do impacto financeiro e social que geram decorrente dos óbitos ou tratamento de vítimas6,26
Devido à principal causa de óbitos, constada no capítulo CID-10, ter sido por causas mal definidas, fica demonstrado que na causa básica dos óbitos contém apenas a descrição de sintomas e sinais de doenças. A ocorrência desses óbitos indica falhas de acesso aos serviços de saúde e reflete a qualidade da assistência prestada à população. Isto sugere deficiências e incompletudes no preenchimento das declarações de óbitos e nos processos de crítica e análise dos dados de mortalidade. Estas imprecisões constituem os principais fatores de limitação para uma análise adequada da mortalidade e elaboração de políticas e programas de saúde6,27.
Destaca-se, ainda, a frequência significativa de óbitos por infarto agudo de miocárdio, complicações da diabetes melittus e acidente vascular cerebral. Compreende-se que a melhoria das condições de vida, com o aumento gradual da expectativa de vida, contribuiu para a transição epidemiológica, em que as doenças cardiovasculares e neoplasias malignas se sobressaíram às doenças infecto-parasitárias, tornando-se as principais causas de morte da população 6,1,2 .
As limitações deste estudo referem-se a não ter o período completo (2000 a 2019) em alguns dados analisados no Datasus e IBGE, a fim de obter uma comparação mais completa. Assim como ainda não estão disponíveis os dados para construção dos indicadores dos últimos dois anos (2020 e 2021), que com o contexto pandêmico da covid-19 seria de grande contribuição incluir no presente estudo.
A análise do perfil do município permitiu compreender que o crescente desenvolvimento urbano e populacional demanda a necessidade de amplo planejamento urbano para o acesso a serviços, sobretudo de itens basilares, como saneamento básico, coleta de lixo, esgotamento sanitário, educação e saúde. Apesar de o município se encontrar em crescente desenvolvimento econômico, o acesso aos bens e serviços não corresponde às necessidades da população.
Especificamente a oferta de serviços públicos de saúde, que estava inferior à demanda populacional, aponta-se a necessidade de maior investimento, principalmente na ampliação da cobertura da APS, para que assim possa ocorrer a intensificação das ações de promoção da saúde e prevenção de agravos e doenças, contribuindo para a melhoria dos indicadores apresentados.
Ressalta-se a importância da qualificação das equipes de saúde e sua corresponsabilização na notificação e preenchimento de informações referentes à construção dos indicadores de morbimortalidade, e a busca na melhoria das ações de vigilância em saúde. Destarte, sugere-se a implantação da vigilância do óbito para o fomento de espaços de investigação e discussão de óbitos por causas mal definidas e redirecionamento da rede.
1. Concepção do projeto, análise e interpretação dos dados: Hassyla Maria de Carvalho Bezerra e Michelle Christini Araújo Vieira.
2. Redação do artigo e revisão crítica relevante do conteúdo intelectual: Hassyla Maria de Carvalho Bezerra, Michelle Christini Araújo Vieira, Margaret Olinda Lira, Claudelí Mistura, Jonatan Willian Sobral Barros da Silva e Bruna Stamm.
3. Revisão e/ou aprovação final da versão a ser publicada: Hassyla Maria de Carvalho Bezerra, Michelle Christini Araújo Vieira, Margaret Olinda Lira, Claudelí Mistura, Jonatan Willian Sobral Barros da Silva e Bruna Stamm.
4. Ser responsável por todos os aspectos do trabalho na garantia da exatidão e integridade de qualquer parte da obra: Hassyla Maria de Carvalho Bezerra, Michelle Christini Araújo Vieira, Margaret Olinda Lira, Claudelí Mistura, Jonatan Willian Sobral Barros da Silva e Bruna Stamm.
1. Duarte EC, Barreto SM. Transição demográfica e epidemiológica: a Epidemiologia e Serviços de Saúde revisita e atualiza o tema. Epidemiol Serv Saúde. 2012;21(4):529-32.
2. Mendes ADCG, de Sá DA, Miranda GMD, Lyra TM, Tavares RAW. The public healthcare system in the context of Brazil’s demographic transition: current and future demands. Cad Saúde Pública. 2012;28(5):955-64.
3. Santos NR. SUS, política pública de Estado: seu desenvolvimento instituído e instituinte e a busca de saídas.Ciênc Saúde Colet. 2013;18(1):273-80.
4. Lima AC, Januário MC, Lima PT, de Moura e Silva W. Datasus: o uso dos Sistemas de Informação na Saúde Pública. Refas. 2015;1(3):16-31.
5. Marques LP, Corrêa T, Cartana MdHF. Utilização dos sistemas de informação na atenção primária à saúde: um estudo de caso. Rev Elect Invest y Docencia. 2015;(14):81-102.
6. REDE Interagencial de Informação para a Saúde. Indicadores básicos para a saúde no Brasil: conceitos e aplicações. 2a ed. Brasília(DF): Organizacao PanAmericana de Saúde; 2008.
7. Lyra MRSB, Souza MAA, Bitoun J. Demografia e Saúde: Perfil da População. In: RECIFE, editor. Desenvolvimento Humano no Recife: atlas municipal. Recife (PE): Prefeitura de Recife; 2005.
8. Rouquayrol MZ, Almeida-Filho N. Epidemiologia & Saúde. 6a ed. Rio de Janeiro (RJ): MEDSI; 2003.
9. Diretoria de Pesquisas Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Coordenação de População e Indicadores Sociais [Internet]. 2017 [citado em 2016 jul 16]. Disponível em: http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil. php?codmun=291080
10. Feira de Santana. Secretaria Municipal de Educação. Plano municipal de educação. Feira de Santana (BA): Secretaria Municipal de Educação; 2021.
11. Brasil. Ministério da Saúde. Datasus – Departamento de Informática do SUS. Informações de Saúde [Internet]. 2016 [citado em 2016 jul 9]. Disponível em: https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/
12. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico 2010 [Internet]. 2022 [citado em 2016 jul 30]. Disponível em: http://www.sidra. ibge.gov.br/bda/tabela/listabl.asp?z=t&c=202
13. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico 2000 [Internet]. 2020 [citado em 2022 jun 13]. Disponível em: https://biblioteca. ibge.gov.br/pt/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=783
14. Miquilin IOC, Marín-León L, Luz VG, La-Rotta EIG, Corrêa Filho HR. Demographic, socioeconomic, and health profile of working and nonworking Brazilian children and adolescents: an analysis of inequalities. Cad Saúde Pública. 2015;31(9):1856-70.
15. Fernandes RB, Lima JB, Nascimento VS. Feira de Santana – Bahia: o desenvolvimento da Princesa do Sertão. In: Anais do IV Seminário Internacional Sobre Desenvolvimento Regional; 2008; Santa Cruz do Sul (RS), Brasil. Santa Cruz do Sul (RS): Unisc; 2008. p. 1-27.
16. DEEPASK. Indicadores Municipais Feira de Santana 2015 [Internet]. 2016 [citado em 2016 jul 1]. Disponível em: www.deepask.com.
17. Brasil. Ministério das Cidades, Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. Plano Nacional de Saneamento Básico – mais saúde com qualidade de vida e cidadania. Brasília (DF); 2013.
18. Pedraza DF. Crescimento linear das crianças brasileiras: reflexões no contexto da equidade social. Rev Nutr. 2016;29(2):287-96.
19. Brasil. Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Brasília (DF); 1990.
20. Brasil. Lei n. 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o Inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. Brasília (DF); 1997.
21. Brasil. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Plano Nacional de Educação PNE 2014-2024: linha de base. Brasília (DF): Inep; 2015.
22. Martins ACP, Assis MMA. Serviços de saúde (públicos e privados) de Feira de Santana-BA. Feira de Santana (BA): UEFS; 2002.
23. Santos GM, de Souza e Silva SAL. Relação público-privado na saúde: o pagamento de serviços de diagnóstico por imagem em rede própria e no setor privado complementar ao SUS em Salvador/BA. Salvador (BA): Universidade Federal da Bahia; 2015.
24. Menicucci TMG. A reforma sanitária brasileira e as relações entre o público e o privado. In: Santos NR, Amarante PDC, organizadores. Gestão pública e relação público-privado na saúde. Rio de Janeiro (RJ): Cebes; 2011. p. 180-97.
25. Dilélio AS, Tomasi E, Thumé E, Silveira DS, Siqueira FCV, Piccini RX, et al. Padrões de utilização de atendimento médico-ambulatorial no Brasil entre usuários do Sistema Único de Saúde, da saúde suplementar e de serviços privados. Cad Saúde Pública. 2014;30(12):2594-606.
26. Maciel PR, Souza MR, Rosso CFW. Estudo descritivo do perfil das vítimas com ferimentos por projéteis de arma de fogo e dos custos assistenciais em um hospital da Rede Viva Sentinela. Epidemiol Serv Saúde. 2016.25(3):607-16.
27. Cunha CC, Teixeira R, França E. Avaliação da investigação de óbitos por causas mal definidas no Brasil em 2010. Epidemiol Serv Saúde. 2017;26(1):19-30.
Recebido: 22.3.2018. Aprovado: 24.5.2022.
DOI: 10.22278/2318-2660.2020.v44.n4.a2796
Camila Daiane Silvaa
https://orcid.org/0000-0002-0739-4984
Marina Soares Motab
https://orcid.org/0000-0002-5717-9406
Daniele Ferreira Acostac
https://orcid.org/0000-0001-5690-1076
Juliane Portella Ribeirod
https://orcid.org/0000-0002-1882-6762
Resumo
Este artigo tem o objetivo de apresentar a representação social dos técnicos de enfermagem e agentes comunitários acerca da violência doméstica, bem como identificar suas implicações no cuidado às vítimas. Dessa forma, realizaram-se análises descritivas e qualitativas, fundamentadas na Teoria das Representações Sociais. Participaram dessa pesquisa 39 profissionais atuantes em dez Unidades de Saúde da Família, coletando-se os dados das entrevistas, por meio da Análise de Conteúdo de Bardin. Identificou-se que os profissionais representavam a violência doméstica como um crime que deve ser punido. Tal representação é estruturada, pois contém conceito, imagem e atitude. As implicações dessa representação nos cuidados às vítimas se referem à divulgação de informações dos direitos da mulher, da denúncia policial e da rede de apoio. Por fim, foi identificado que os profissionais confundem seus compromissos éticos de notificação compulsória com a denúncia policial, que pode ser efetuada pela vítima, familiares ou conhecidos, conse -
a Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Docente na Universidade Federal do Rio Grande. Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil. E-mail: camilad.silva@yahoo.com.br
b Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Docente na Universidade Federal de Pelotas. Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil.
E-mail: msm.mari.gro@gmail.com
c Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Docente na Universidade Federal do Rio Grande. Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil. E-mail: nieleacost@gmail.com
d Enfermeira. Phd em Enfermagem. Docente na Universidade Federal de Pelotas. Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil.
E-mail: ju_ribeiro1985@hotmail.com
Endereço para correspondência: Universidade Federal do Rio Grande. Ruas Visconde de Paranaguá, s/n. centro. Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil. CEP: 96200-000. E-mail: camilad.silva@yahoo.com.br
quentemente, isso provoca a subnotificação e dificulta a compreensão da dimensão desse problema em nível nacional.
Palavras-chave: Violência contra a mulher. Violência doméstica. Enfermagem.
Abstract
This study presents the social representation of two nursing technicians and community agents regarding domestic violence, identifying their implications in caring for these victims. To this end, descriptive and qualitative analyses were carried out based on Social Representation Theory. Data were collected by means of interviews with 39 health professionals working in ten Family Health Units, and interpreted using Bardin’s Content Analysis. It identified that professional represented domestic violence as a crime that must be punished. Such is a structured representation, as it contains concept, image, and attitude. When caring for victims of domestic abuse, this representation implies offering information on women’s rights, reporting the incident to the police, and offering a support network. In conclusion, professionals confuse their ethical commitment to compulsory notification with police reporting, which can be made by the victim, family or colleagues. Consequently, this leads to underreporting and hinders understanding the dimension of this issue on a national scope.
Keywords: Violence against woman. Domestic violence. Nursing.
EL CUIDADO A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA: REPRESENTACIÓN SOCIAL DE PROFESIONALES DE SALUD
Este artículo tiene como objetivo conocer la representación de los técnicos de enfermería y agentes comunitarios acerca de la violencia doméstica, e identificar sus implicaciones en el cuidado a las víctimas. De esta manera, se realizó un estudio descriptivo y cualitativo, fundamentado en la Teoría de las Representaciones Sociales. Participaron 39 profesionales actuantes en diez Unidades de Salud Familiar, y se recogieron los datos de entrevistas por medio del Análisis de Contenido de Bardin. Se identificó que los profesionales representaron la violencia
doméstica como crimen que debe ser castigado. Tal representación es estructurada, pues contiene concepto, imagen y actitud. Las implicaciones de esta representación en los cuidados a las víctimas se refieren a la divulgación de informaciones de los derechos de la mujer, de la denuncia policial y de la red de apoyo. Se concluye que los profesionales confunden sus compromisos éticos de notificación obligatoria con denuncia policial, que puede ser efectuada por la víctima, familiares o conocidos, lo que genera subnotificación y dificulta la comprensión de la dimensión de este problema a nivel nacional.
Palabras clave: Violencia contra la mujer. Violencia doméstica. Enfermería.
Independentemente da religião, etnia ou situação socioeconômica, o fenômeno universal da violência doméstica afeta as mulheres em diferentes faixas etárias. Nesse sentido, os dados divulgados pela Organização das Nações Unidas (ONU) apontam que, mundialmente, 70% das mulheres enfrentarão alguma forma de violência ao longo de suas vidas e que, uma em cada cinco, sofrerá tentativa ou estupro1.
No que se refere à tolerância da sociedade brasileira à violência contra as mulheres, uma pesquisa revelou que 91% da população entrevistada admite que o homem agressor deve ir para a cadeia2, ou seja, deve ser punido pelo crime cometido. Em uma tentativa de coibir a violência doméstica contra a mulher, promulgou-se no Brasil, em agosto de 2006, a Lei Maria da Penha, cujo dispositivo prevê medidas como a prisão preventiva do agressor, afastamento do lar e proibição de contato ou aproximação da vítima e filhos.
Apesar do rigor dessa legislação, há outros motivos que mantêm os atos violentos restritos ao lar. Por vezes, amigos, familiares, vizinhos e a própria vítima naturalizam a violência, não a identificando.
Importantes aliadas na identificação e no combate à violência doméstica contra a mulher são as equipes que atuam nas Unidades de Saúde da Família (USF), sobretudo os Técnicos de Enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde (ACS), cujos profissionais mantêm vínculos diretos com as famílias. Durante as visitas domiciliares, quando identificam ou são comunicados de situações violentas, compartilham com o restante da equipe, a fim de encontrar as melhores condutas terapêuticas e assistenciais3
Pela proximidade e atuação desses profissionais com as famílias, é de relevância científica e social conhecer a representação dos profissionais da saúde sobre a temática da violência doméstica contra a mulher. Acredita-se que muitos profissionais tenham a
representação da violência, tal qual uma ação cotidiana dos casais. Essa representação, decerto, influencia no cuidado prestado às vítimas, bem como na identificação e aplicação dos aspectos éticos e legais do atendimento. Assim, considerou-se fundamentar este estudo sobre a Teoria das Representações Sociais, constituindo “uma forma de conhecimento socialmente elaborada e partilhada, tendo uma orientação prática e concorrendo para a construção de uma realidade comum a um conjunto social”4:32. Dessa forma, optou-se por analisar: quais as representações sociais dos técnicos de enfermagem e agentes comunitários e as implicações da representação no cuidado às vítimas, a fim de conhecer a representação desses profissionais sobre a violência doméstica e identificar suas implicações nos cuidados às vítimas.
Este artigo é um estudo descritivo e qualitativo, fundamentado na Teoria das Representações Sociais. Entre as abordagens dessa teoria, utilizou-se a processual, criada por Denise Jodelet5, a qual propõe a reflexão sobre a realidade e suas implicações, bem como se fundamenta em processos de formação da representação social, a ancoragem e a objetivação6
Este estudo foi realizado em dez unidades de saúde da família, com os profissionais de saúde, técnicos de enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde (ACS). Para tanto, convidou-se, aleatoriamente, no mínimo um técnico de enfermagem e dois agentes comunitários de saúde, totalizando 39 profissionais. Destaca-se o consenso entre os teóricos das representações sociais de que trinta é o número mínimo para identificar, por meio de entrevistas, as representações em um grupo7 O critério de inclusão foi estar atuante na unidade há seis meses ou mais. Foram desconsiderados aqueles que exerciam a atividade por um período menor que seis meses e os que estavam em férias, folga ou licença.
Para a coleta dos dados, realizada de julho a novembro de 2013, elaborouse um roteiro com questões abertas que possibilitaram apreender a percepção geral, profissional e pessoal acerca da temática violência doméstica contra a mulher. Verificaram-se as práticas de cuidado voltadas a mulheres vitimadas, bem como os aspectos éticos e legais desse atendimento, incluindo a notificação compulsória e as dificuldades em executá-la. As entrevistas foram realizadas individualmente, em uma sala de cada unidade, garantindo a privacidade. Elas apresentaram duração média de quarenta minutos, foram gravadas e transcritas na íntegra.
Os dados foram tratados por meio da técnica de Análise de Conteúdo de Bardin8, que propõe a operacionalização sequencial das fases de pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados – que inclui a inferência e a interpretação. As falas foram
identificadas por TE para os Técnicos de Enfermagem e ACS para Agentes Comunitários de Saúde. Foram observados os preceitos legais da pesquisa com seres humanos, previstos na Resolução 466/2012, sendo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa na Área da Saúde sob nº 020/2013 e os participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido.
Dos 39 profissionais, 12 eram técnicos de enfermagem e 27 agentes comunitários de saúde. Totalizaram 35 mulheres e quatro homens; 16 tinham idade igual ou superior a 40 anos e 23 tinham idade inferior. Os resultados foram apresentados em duas categorias: representação da violência – aspectos conceituais, imagéticas e atitudinais – e implicações da representação da violência nos cuidados às vítimas.
REPRESENTAÇÃO DA VIOLÊNCIA: ASPECTOS CONCEITUAIS, IMAGÉTICAS E
Os elementos constituintes de uma representação social são o conceito, imagem e atitude. Verificou-se que os profissionais dispõem de uma representação estruturada no que se refere ao conceito, uma vez que descreveram a violência como algo que vai além da agressão física:
“Violência doméstica contra a mulher para mim é desde uma violência verbal até uma violência física. A violência é de várias formas, pode ser até no olhar. Ele deixou a mulher sozinha, sem dinheiro nem pertences, foi feito um boletim de ocorrência.” (TE).
Com relação à dimensão imagética da violência doméstica contra a mulher, os profissionais se fundamentaram em sinais que permitem a sua identificação e que constituem as marcas deixadas no corpo da vítima. Além disso, a associam à imagem da violência praticada na era pré-histórica.
“Ela apareceu com hematomas e o olho roxo. Eu perguntei o que era ela se retraiu, não queria falar, não quis fazer a denúncia.” (ACS).
“O ser humano está voltando à época das cavernas onde a mulher era usada como bicho, arrastada, maltratada. Hoje em dia isso não pode acontecer porque está tudo muito evoluído.” (ACS).
No que se refere à atitude, ou seja, ao julgamento que os profissionais fazem da violência doméstica contra a mulher, identificaram-se os sentimentos de covardia e desrespeito.
“Ela disse que toda vez que o companheiro chega em casa bêbado e ela comenta algo, ela apanha. É covardia. Ela disse que não adianta fazer algo, porque continuaria apanhando, mas eu orientei ela a procurar a polícia.” (TE).
“A violência contra a mulher é um desrespeito ao ser humano.” (TE).
Além das dimensões conceitual, imagética e atitudinal, os profissionais representaram a violência doméstica contra a mulher como um crime que não pode ficar impune. Expressaram a necessidade de denúncia policial, demonstrando que providências judiciais precisam ser tomadas diante das situações de violência.
“Ele [profissional] deve chamar a polícia e fazer o boletim de ocorrência. Porque no final vai ser contabilizado também, não vai ficar impune.” (TE).
“Tem que denunciar, não tem que ter pena. Se não tomar uma atitude, não tem fim.” (ACS).
“Tem que denunciar, aquela coisa toda, como profissional de saúde não podes deixar passar.” (ACS).
O contato, pessoal ou profissional, com situações de violência doméstica leva os profissionais a perceberem a necessidade de romper com a naturalização da violência. Assim, representaram a violência doméstica contra a mulher como um crime. Essa representação tem implicações nos cuidados às vítimas.
A representação social dos profissionais acerca da violência doméstica contra a mulher implica uma prática de cuidado que requer orientações à vítima. Essas orientações permeiam a legislação protetiva, os locais para a realização da denúncia, além de acolhimento e apoio. No entanto, o medo de represálias, por parte do agressor, leva os profissionais a orientarem as vítimas a agirem anonimamente.
“
Dar apoio, tentar encaminhar e ajudar aquela família ou aquela mulher, para sair da situação ou pelo menos melhorá-la de algum modo.” (ACS).
“Orientei que existe a Lei Maria da Penha, que tinha que ser ela mesma a fazer a denúncia.” (TE).
“Tentamos orientar todos os meios que ajudam a mulher, no caso a delegacia da mulher.” (ACS).
“Eu dizia: por que não denuncias? Não diz que és a mulher, [diz] que é uma vizinha e que denunciou ele. Ele nunca vai saber.” (ACS).
Ao representarem a violência doméstica contra a mulher como um crime, os profissionais mencionaram que sua prática de cuidado implica a realização da denúncia policial, sendo isso um compromisso ético e legal. No entanto, justificaram sua omissão pelo vínculo profissional que mantêm com a família e a comunidade, sobretudo pelo medo de represália do agressor ou por considerarem que essa é uma responsabilidade da vítima.
“Eu acho que legalmente tem que fazer a denúncia.” (ACS).
“Eticamente acho que agi correto, orientei, falei com ela sozinha! Só que legalmente, deveria ter denunciado, mas não pode, tem que ser a pessoa.” (TE).
“A gente deveria denunciar, mas não fazemos porque as pessoas dizem: moras aí e em briga de marido e mulher ninguém mete a colher.” (ACS).
“É mais fácil fazer uma ligação anônima. A partir do momento que eu denunciar, aquela família não vai deixar mais eu entrar dentro da casa.” (ACS).
“Se eu fizer isso [denunciar], sozinha, pode saber que no outro dia não estarei viva. Elas [assistente-social/psicóloga] vieram aqui, chamaram a polícia, mas foram embora. Eu não, eu moro aqui!” (ACS).
Embora os profissionais tenham apontado que a prática de cuidado implica a realização da denúncia policial, eles afirmaram que a vítima deve se responsabilizar pela denúncia. Entretanto, reconheceram os motivos pelos quais as vítimas mantêm o relacionamento com o agressor, não denunciando ou retirando a queixa.
“Ela tem os filhos dela para sustentar, que dependem dela e da casa. Ela dizia: -é pelos meus filhos! Eu aguento por eles!” (ACS).
A notificação compulsória da violência é um dos compromissos éticos e legais da prática de cuidado à vítima. No entanto, a maioria dos participantes a desconhece, outros a conceituam de forma equivocada e há, ainda, os que a associam apenas às doenças que requerem notificação.
“É tu colocar todos os dados do paciente em um documento e encaminhá-lo para outro local onde será contabilizado. Serve para os órgãos competentes tomarem uma atitude e para fazer um somatório e no final ser exposto.” (TE).
“Não sei o que é a notificação compulsória. Esse nome eu nunca ouvi, se ouvi não registrei.” (ACS).
“É quando alguém não quer admitir que está sofrendo violência e vem algum parente dizer que está acontecendo.” (ACS).
“Tem de quando a pessoa está doente com tuberculose.” (ACS).
Os profissionais citaram a Lei Maria da Penha como a legislação que regulamenta suas condutas, desconsiderando o Código de Ética de Enfermagem - que regulamenta a conduta dos técnicos de enfermagem - e o decreto que regulamenta a conduta dos ACS em situações de violência doméstica.
“Se existe uma legislação eu não sabia. Existe?” (TE).
“Minha conduta profissional? Tem uma lei, a Maria da Penha.” (TE).
“Eu sei que existe uma coisa tipo código de ética que impõe que tem que agir dessa forma, tem que tratar a pessoa dessa maneira.” (ACS).
“A lei das atribuições do agente comunitário, das coisas que a gente deve fazer no caso.” (ACS).
A representação como um crime implica práticas de cuidado que vão além de ações individuais, ou seja, que envolvam uma rede integrada. Assim, alguns profissionais, apoiados no papel de líderes de equipe, citaram o enfermeiro como um suporte para a prática de cuidado à vítima. Os agentes, possivelmente por trabalharem e residirem no mesmo local, perceberam a necessidade de uma prática de cuidado à vítima partilhada com a equipe de saúde da USF.
“Quando a gente vê que a coisa é séria, a gente já passa para a enfermeira, quem termina realmente o acolhimento é ela!” (TE).
“Sempre trazer para a equipe para depois tomar uma decisão, até para não correr o risco da precipitação e perder aquela cliente.” (ACS).
“O serviço feito em conjunto é bem mais elaborado do que feito sozinho. Sendo elaborado em conjunto poderá ser mais seguro.” (ACS).
Os profissionais não medem esforços para prestar cuidado à vítima. No entanto, ao esgotarem os recursos da USF, acionam outras instâncias da rede, reconhecendo a necessidade de integração dos serviços de proteção.
“No caso de agressão, por exemplo, se encaminha direto para a polícia ou para a Delegacia da Mulher. Se for um caso de não agressão física, mais psicológica, verbal, encaminha para o órgão responsável, que pode ser o NASF.” (ACS).
“Procuramos trazer para dentro da USF discutir e passar para o NASF.” (ACS).
A Delegacia da Mulher, entre os serviços de proteção, foi a mais citada. O Núcleo Ampliado de Saúde da Família foi indicado como um recurso da Atenção Básica de Saúde, com o qual podem contar para o cuidado às vítimas. Isso demonstra que a violência doméstica contra a mulher é um complexo problema de saúde e os profissionais o identificam como uma necessidade a ser enfrentada por meio da articulação de uma rede de apoio multiprofissional.
Das práticas sociais surgem as representações sociais, que, por sua vez, podem perpetuar ou contribuir para transformar tais práticas6. Além disso, os elementos constituintes de uma representação social são: conceito, imagem e atitude9. Por fim, “as representações sociais têm suas raízes nos conceitos elaborados pelos grupos humanos como produto das interações contínuas e das visões de mundo de seus membros”10:413. Uma pesquisa, realizada com agentes comunitários, apresentou que a perspectiva desses profissionais sobre a violência é constituída a partir da realidade e do contexto social em que as mulheres estão inseridas conjugadas as noções de desigualdades de gênero perpetuadas, na maioria dos casos, pelo próprio companheiro3
Os técnicos e agentes comunitários de saúde representaram a violência doméstica contra a mulher como um crime que deve ser punido. Destaca-se que a violência contra as mulheres é, mundialmente, um dos crimes mais comuns e pouco punido11. Essa representação implica uma prática de cuidado às vítimas, que oferece apoio, conversa, informação quanto aos locais para denúncia e a legislação protetiva. Isso também foi identificado em outra pesquisa que apontou a criação e manutenção do vínculo de confiança, bem como o encorajamento da vítima para falar sobre a situação12. Outro estudo realizado com agentes comunitários verificou a importância da manutenção do vínculo, escuta e diálogo com a vítima3.
A prática de cuidado dos profissionais é orientada pelo desejo da vítima. Caso não deseje denunciar ou opte por desistir da denúncia, os profissionais consideram sua ação encerrada. Uma pesquisa, também desenvolvida com agentes comunitários, verificou o comprometimento desses profissionais na atenção às vítimas, porém, suas ações não se converteram em práticas efetivas para o enfrentamento dessa problemática3. Sugerem-se assim, ações potencializadoras da autonomia feminina, considerando a construção social de gênero3
Os profissionais compreenderam as justificativas das vítimas para não levarem a situação de violência às instâncias judiciais, mesmo conhecendo a lei de proteção. Em muitos casos, o medo do agressor pode influenciar na manutenção da violência em segredo. A compreensão dos profissionais em relação à decisão da vítima pode estar associada ao sentimento de empatia. Um estudo desenvolvido com profissionais de saúde revelou que os mesmos, ao sofrerem algum tipo de violência no ambiente de trabalho, não relataram a ocorrência por medo ou vergonha13. Da mesma forma, uma pesquisa realizada com vítimas identificou, em seus relatos, que muitas viviam com medo do agressor – de que ele pudesse matá-las ou prejudicar suas filhas14
Os técnicos de enfermagem e agentes comunitários responsabilizaram a vítima pela realização da denúncia policial. Já em outra pesquisa, que estudou a violência contra a mulher como alvo dos cuidados em saúde, os profissionais responsabilizaram a vítima pela violência sofrida15. Destaca-se que poucas são as vítimas que procuram apoio na polícia, pois a maioria prefere manter-se calada16, já que se sentem culpadas pelo ocorrido11. É preciso considerar que a vítima se encontra em um momento difícil, no qual seus sentimentos pelo parceiro são ambíguos, oscilando entre ódio, raiva e amor, o que pode influenciar na decisão. Nesse sentido, desde 2012, a Lei Maria da Penha determina que, em casos de lesão corporal, a denúncia aos órgãos policiais e ao Ministério Público17 pode ser realizada por familiares, vizinhos, amigos ou mesmo filhos e filhas. Essa modificação é mais um reconhecimento da fragilidade e do desequilíbrio emocional desencadeado pela Violência Doméstica Contra a Mulher (VDCM), sendo desumano responsabilizar exclusivamente a vítima
por essa iniciativa. Para o enfrentamento de situações complexas como a violência, é essencial a corresponsabilização entre o serviço de saúde, a mulher e a sociedade.
Evidenciou-se que os participantes relataram como um compromisso ético e legal nas práticas de cuidado às vítimas, a denúncia policial e não a notificação compulsória. Essa confusão também foi identificada em um estudo com profissionais de saúde da atenção básica, que as citaram como sinônimos18.
Cabe esclarecer que a notificação compulsória consiste no registro organizado e sistemático, em formulário próprio, dos casos conhecidos, suspeitos ou comprovados de violência contra a mulher19. Para a realização desse registro, o profissional de saúde não precisa conhecer o agressor. O descumprimento das recomendações previstas para a notificação compulsória caracteriza infração da legislação de saúde pública, estando os profissionais de saúde sujeitos às penalidades relativas ao seu Código de Ética Profissional19.
Os técnicos de enfermagem e agentes comunitários reconheceram o suporte do enfermeiro para a prática de cuidado às vítimas. Esse suporte também é descrito em outro estudo, no qual os enfermeiros são os principais membros da equipe, a quem os demais recorrem para auxílio e orientação3. Contudo, independentemente do profissional de saúde que realiza o cuidado à vítima, o registro no prontuário deve conter todos os aspectos relacionados ao estado de saúde, aos procedimentos e aos cuidados prestados pois, conforme previsto na Lei Maria da Penha, os prontuários podem ser utilizados como provas complementares para esclarecimentos durante o julgamento do agressor19
Os profissionais de saúde também reconheceram a necessidade de uma prática de cuidado realizada por uma rede integrada destacando, além do enfermeiro e a equipe da USF, a delegacia da mulher e o Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF). A responsabilidade pela prática do cuidado às vítimas não deve ser transferida de um profissional para o outro, tampouco de um serviço para outro, já que é necessário o estabelecimento de uma rede de cuidado em que todos esses serviços possam atuar coletiva e integralmente. Nesse sentido, um estudo realizado com vítimas e profissionais traz o depoimento de uma técnica de enfermagem que admite ser importante atender a vítima de maneira integrada, mas que a rede está sendo, lentamente, construída pelos profissionais da saúde20.
A violência doméstica contra a mulher é um complexo problema de saúde que, cujo profissional da saúde é incapaz de resolver, em determinadas situações. Ainda que incipiente, esses profissionais reconheceram a necessidade de uma rede de atendimento à vítima, composta por profissionais de diferentes áreas, cujas atribuições possibilitem a resolutividade do caso, impedindo a impunidade desses crimes.
Os resultados mostraram que os técnicos de enfermagem e os agentes comunitários representaram a violência doméstica contra a mulher como um crime penalizável. Tal representação, constituída por conceito, imagem e atitude, implica práticas de cuidado às vítimas que envolvam informação, denúncia policial e a rede integrada. Destaca-se que um dos aspectos éticos e legais do cuidado à vítima é a obrigatoriedade da realização da notificação compulsória, pouco lembrada ou não conceituada pelos profissionais. Por vezes, confunde-se a notificação com a denúncia policial, a qual pode ser realizada como um ato de cidadania.
Os objetivos deste artigo foram alcançados, no entanto, tais resultados constituem uma primeira análise da representação da violência doméstica restrita a um grupo específico de profissionais. Essa limitação pode ser superada, ampliando-se o método a outras categorias profissionais e contextos socioculturais.
Os resultados deste estudo podem auxiliar as equipes de saúde nas práticas de cuidado às vítimas, bem como contribuir para o esclarecimento, junto à equipe, da diferença entre denúncia e notificação compulsória, além da responsabilidade profissional em sua elaboração. Indiretamente, pode evidenciar a importância da notificação para o dimensionamento do problema, a partir da qual gerará informações que subsidiarão novas ações e políticas públicas de saúde, bem como ratificar outras já existentes.
1. Concepção do projeto, análise e interpretação dos dados: Camila Daiane Silva, Daniele Ferreira Acosta e Marina Soares Mota.
2. Redação do artigo e revisão crítica relevante do conteúdo intelectual: Camila Daiane Silva, Daniele Ferreira Acosta, Marina Soares Mota e Juliane Portella Ribeiro.
3. Revisão e/ou aprovação final da versão a ser publicada: Camila Daiane Silva, Daniele Ferreira Acosta, Marina Soares Mota e Juliane Portella Ribeiro.
4. Ser responsável por todos os aspectos do trabalho na garantia da exatidão e integridade de qualquer parte da obra: Camila Daiane Silva, Daniele Ferreira Acosta, Marina Soares Mota e Juliane Portella Ribeiro.
1. World Health Organization. Violence against women: the situation [Internet]. 2014 [citado em 2015 abr 20]. Disponível em: https://www.who.int/newsroom/fact-sheets/detail/violence-against-women
2. Brasil. Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. SIPS Sistema de Indicadores de Percepção Social: tolerância social para violência contra a mulher [Internet]. 2014 [citado em 2015 abr 18]. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/ portal/images/stories/PDFs/SIPS/140327_sips_violencia_mulheres_novo.pdf
3. Hesler LZ, Costa MC, Resta DG, Colomé ICS. Violência contra as mulheres na perspectiva dos agentes comunitários de saúde. Rev Gaúcha Enferm. 2013;34(1):180-6.
4. Jodelet D. Representação social: uma área em expansão. In: Jodelet D, organizadora. As representações sociais. Rio de Janeiro (RJ): Uerj; 2001.
5. Abrão FMS, Góis ARS, Souza MSB, Araújo RA, Cartaxo CMB, Oliveira DC. Social representations of nurses about the religiosity of caring for patients in the dying process. Rev Bras Enferm. 2013;66(5):730-7.
6. Moscovici S. Representação social: um conceito perdido. In: Moscovici S, organizador. A psicanálise social: um conceito perdido. Petrópolis (RJ): Vozes, 2012.
7. Gomes AMT, Silva EMP, Oliveira DC. Social Representations of AIDS and their Quotidian Interfaces for People Living with HIV. Rev Latinoam Enferm. 2011;19(3):485-92.
8. Bardin L. Codificação. In: Bardin L, organizadora. Análise de conteúdo. São Paulo (SP): Edições70, 2011.
9. Sá CP. A construção do objeto de pesquisa em representações sociais. Rio de Janeiro (RJ): Uerj, 1998.
10. Santos EI, Gomes AMT, Oliveira DC. Representations of vulnerability and empowerment of nurses in the context of HIV/AIDS. Texto Contexto Enferm. 2014;23(2):408-16.
11. Jahromi MK, Jamali S, Koshkaki AR, Javadpour S. Prevalence and Risk Factors of Domestic Violence Against Women by Their Husbands in Iran. Glob J Health Sci. 2016;8(5):175-83.
12. Costa MC, Lopes MJM. Elements of completeness in professional health practices to rural women victims of violence. Rev Esc Enferm. 2012;46(5):1088-95.
13. Kitaneh M, Hamdan M. Workplace violence against physicians and nurses in Palestinian public hospitals: a cross-sectional study. BMC Health Serv Res. 2012;12(469)01-9.
14. Tiwari A, Cheung DST, Chan KL, Fong DYT, Yan ECW, Lam GLL, et al. Intimate partner sexual aggression against Chinese women: a mixed methods study. BMC Womens Health. 2014;14(70):01-10.
15. Kiss LB, Schraiber LB. Medical-social issues and interventions in health: violence against women in professional discourse. Ciênc Saúde Colet. 2011;16(3):1943-52.
16. Bibi S, Ashfaq S, Shaikh F, Qureshi PM. Prevalence instigating factors and help seeking behavior of physical domestic violence among married women of Hyderabad Sindh. Pak J Med Sci. 2014;30(1):122-5.
17. Brasil. Supremo Tribunal Federal. Supremo julga procedente ação da PGR sobre Lei Maria da Penha [Internet] 2012. [citado em 2016 dez 20]. Disponível em: https://stf.jusbrasil.com.br/noticias/3016808/supremo-julgaprocedente-acao-da-pgr-sobre-lei-maria-da-penha
18. Kind L, Orsini MLP, Nepomuceno V, Gonçalves L, Souza GA, Ferreira MFF. Primary healthcare and underreporting and (in) visibility of violence against women. Cad Saúde Pública. 2013;29(9):1805-15.
19. Santinon EP, Gualda DMR, Silva LCFP. Violência contra a mulher: notificação obrigatória e outros instrumentos jurídicos de uso dos profissionais de saúde [Internet] 2010. [citado em 2016 dez 15]. Disponível em: https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-administrativo/violenciacontra-a-mulher-notificacao-compulsoria-e-outros-instrumentos-legais-deuso-dos-profissionais-de-saude/
20. Dutra ML, Prates PL, Nakamura E, Villela WV. The configuration of the social network of women living in domestic violence situations. Ciênc Saúde Colet. 2013;18(5):1293-304.
Recebido: 9.4.2018. Aprovado: 24.5.2022.
Mariane Bittencourta
https://orcid.org/0000-000205700-506X
Artur Cuccob
https://orcid.org/0000-0002-3901-7630
Claudia Regina Lima Duarte da Silvac
https://orcid.org/0000-0002-4813-1603
Judite Hennemann Bertoncinid
https://orcid.org/0000-0002-7422-9161
As práticas em grupo representam significativa parcela da assistência na atenção básica por meio das políticas de educação em saúde. Há uma diversidade de dispositivos para atuação em grupo e, portanto, cabe ao profissional no processo de trabalho da equipe, a escolha do referencial e da metodologia utilizada nessas práticas. Esta pesquisa pretendeu identificar a compreensão de profissionais da estratégia de saúde da família sobre a prática com grupos na atenção básica. Este artigo compõe uma pesquisa-ação de abordagem qualitativa, realizada com 39 profissionais de diversas categorias atuantes em equipes de saúde do município de Blumenau (SC). Para a produção de dados foram realizados oito grupos focais gravados em áudio e transcritos para posterior análise de conteúdo embasada nos processos grupais de Enrique Pichon-Rivière e pressupostos da ergologia de Ives Schwartz. A maioria dos profissionais demonstraram dificuldades em sugerir teorias, técnicas ou metodologias de a Psicóloga. Mestre em Saúde Coletiva pela Universidade Regional de Blumenau - FURB. Blumenau, Santa Catarina, Brasil. E-mail: mari.anebittencourt@hotmail.com
b Acadêmico de Psicologia na Universidade Regional de Blumenau - FURB. Blumenau, Santa Catarina, Brasil. E-mail: artcucco@hotmail.com
c Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Docente do Programa de Pós- Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Regional de Blumenau - FURB. Blumenau, Santa Catarina, Brasil. E-mail: claudiaduarte11@hotmail.com
d Enfermeira. Doutora em Enfermagem: Filosofia, Saúde e Sociedade pela Universidade Federal de Santa Catarina. Professora aposentada na Universidade Regional de Blumenau – FURB. Blumenau, Santa Catarina, Brasil. E-mail: judihb@gmail.com
Endereço para correspondência: Rua Wunstorf, número 157, apartamento 103, Edifício CenterNort, Bairro Itoupava Norte, Blumenau, Santa Catarina, Brasil. CEP: 89053-316. E-mail: mari.anebittencourt@hotmail.com
trabalho com grupos. A minoria reconheceu o termo ‘grupo operativo’, contudo nenhum associou ao teórico Pichon-Rivière. As metodologias tradicionais foram referidas como as mais utilizadas, porém a pesquisa constituiu um espaço de debate das normas e práticas grupais dos profissionais. Foi concluído a necessidade de capacitação para desenvolver trabalhos com grupos diante do pouco conhecimento teórico, metodológico e vivencial.
Palavras-chave: Atenção básica. Prática de grupo. Processo de trabalho. Ergologia.
Abstract
Group practices are a significant part of primary care, enacted via health education policies. Given the wide diversity of devices for group work, it is up to the professional responsible for the work process to choose the framework and methodology to be used in these group practices. This study investigates the professionals’ perception of the Family Health Strategy regarding group practices in primary care. A qualitative action research was conducted with 39 professionals from several categories working in health teams in the city of Blumenau, Santa Catarina, Brazil. Data were collected by means of eight focal groups, audio recorded and transcribed for later content analysis based on Enrique Pichon-Rivière’s group processes and Ives Schwartz’s ergology assumptions. Most professionals had difficulties in suggesting theories, techniques, or methodologies for working with groups. Few of them recognized the term ‘operative group,’ but none associated it with psychiatrist Pichon-Rivière. Traditional methodologies were referred to as being widely used, but the research constituted a space for debating the norms and group practices of the professionals. Given the little theoretical, methodological, and experience knowledge evidenced, the text points to a need for training to develop group practices.
Keywords: Primary care. Group practice. Work process. Ergology.
Las prácticas grupales representan significativa parte de la asistencia en la atención básica a través de las políticas de educación en salud. Existe una diversidad de dispositivos para actuación en grupo, por lo tanto, le corresponde al profesional en el proceso de trabajo del
equipo elegir el referencial y la metodología que serán utilizados en esas prácticas grupales. Esta investigación pretendió identificar la comprensión de profesionales de la Estrategia Salud Familiar sobre la práctica con grupos en la atención básica. Este artículo forma parte de una investigaciónacción de abordaje cualitativo, realizada con 39 profesionales de diversas categorías actuantes en equipos de salud del municipio de Blumenau, Santa Catarina (Brasil). Para la producción de datos se realizaron ocho grupos focales grabados en audio y transcritos, para posterior análisis de contenido basado en los procesos grupales de Enrique Pichon-Rivière y presupuestos de la ergología de Ives Schwartz. La mayoría de los profesionales demuestran dificultades en apuntar teorías, técnicas o metodologías de trabajo con grupos. La minoría reconoció el término ‘grupo operativo’, pero ninguno estuvo asociado al teórico Pichon-Rivière. Las metodologías tradicionales fueron las más utilizadas, sin embargo, la investigación constituyó un espacio de debate de las normas y prácticas grupales de los profesionales. Se concluyó la necesidad de capacitación para desarrollar trabajos con grupos frente al poco conocimiento teórico, metodológico y vivencial.
Palabras clave: Atención básica. Práctica de grupo. Proceso de trabajo. Ergología.
Ainda que seja notável a tendência aos atendimentos individuais, as práticas grupais vêm sendo inseridas na saúde coletiva, especificamente no Sistema Único de Saúde (SUS), desde 1990. Os grupos podem ser constituídos de diferentes formas, dependendo dos objetivos: grupos de orientação, terapêuticos, de reflexão, de vivência, entre outros1 Os critérios organizadores para a realização são geralmente o tipo de doença, tal como grupos de pacientes hipertensos e de diabetes, ou ciclos de vida, tal como grupos de gestantes e puericultura, adolescentes e atividades físicas, coordenados por um ou mais profissionais de saúde da equipe da Estratégia de Saúde da Família (ESF).
Atualmente os grupos são vistos como ferramentas na estratégia de Educação em Saúde (ES), recomendas pelo Ministério da Saúde (MS), por meio da Política Nacional da Atenção Básica (PNAB); da Política Nacional de Humanização (PNH) e da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), devido aos aspectos que evidenciam suas potencialidades e especificidades, por exemplo, seu poder de articulação entre as dimensões individual e coletiva do ser humano2-6. Com relação a essas políticas, alguns documentos referem a utilização de técnicas de grupo e sugerem o termo Grupo Operativo (GO), entre eles: os planos de reorganização da atenção à hipertensão arterial e ao diabetes mellitus7; o plano de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis no Brasil
para o período entre 2011 e 20228; caderno de estratégias para o cuidado de pessoas com doenças crônicas9; e o caderno de saúde mental10. Essas estratégias sugerem o GO como um instrumento possível de ser utilizado na prevenção, promoção, tratamento e acompanhamento de doenças crônico-degenerativas, que são atualmente os problemas de saúde de maior impacto, correspondendo a 72% das causas de mortes no país.
Sistematizado pelo psiquiatra psicanalista Enrique Pichon-Rivière, o GO é uma técnica de intervenção grupal difundida e utilizada no campo da saúde, sobretudo pelo fato de centrar explicitamente em uma tarefa, tornando-se uma técnica flexível e importante no alcance dos objetivos11. Assim, demonstrou que um grupo pode ser mobilizado para trabalhar operativamente. Destaca-se pela sua capacidade de ajuste a qualquer contexto: escola, empresa, clínica, comunidade, e portanto, de trabalhar as mais diversas necessidades e demandas da população, tornando-se uma ferramenta com considerável potencial de aplicabilidade na saúde. É também uma modalidade que facilita a sistematização da atenção e acompanhamento da população em sua situação de vida e saúde, permitindo um olhar para além da doença12. Ainda que as práticas grupais na Atenção Básica (AB) sejam prescritas e deliberadas pelas políticas públicas de saúde, e que o GO seja um instrumento teórico e técnico possível, é responsabilidade do profissional na sua atuação e na dinâmica do processo de trabalho da equipe, a escolha do referencial e a metodologia a serem utilizadas nas práticas do trabalho em grupo. Nesse sentido, o MS estabelece recomendações para o trabalho com os diferentes tipos de grupo na AB, nomeados de ‘prescrições’ a serem desenvolvidas pelos profissionais no cotidiano do seu processo de trabalho. No entanto, a concepção do trabalho como atividade pressupõe a impossibilidade do trabalhador de obedecer uma prescrição sem colocar sua subjetividade em ato ou, como Schwartz refere: ‘corpo-si’13. Logo, o trabalho real dispõe certa distância do trabalho prescrito, pois se dá na esfera do acontecimento, quando o trabalhador necessita enfrentar as variabilidades da situação. A ergologia pretende conhecer para melhor intervir sobre as situações de trabalho, sem desconsiderar os saberes disciplinares, mas enfatizando que é “com aqueles que trabalham que se validará conjuntamente o que podemos dizer da situação que eles vivem”. Desta forma, é possível a articulação entre as perspectivas de Schwartz sobre a atividade de trabalho e de Pichon-Rivière sobre GO, bem como outras técnicas e metodologias de trabalho com grupos, pois permitem acessar a compreensão sobre os processos grupais no trabalho dos profissionais da saúde e construir possibilidades de desenvolvimento de competências.
Cabe a esta pesquisa analisar a articulação entre o trabalho real e o trabalho prescrito no contexto dos grupos no cotidiano das unidades de saúde do município de Blumenau (SC). Sendo assim, este estudo tem como objetivo identificar a compreensão de profissionais da estratégia de saúde da família sobre as práticas grupais na atenção básica.
Esta é uma pesquisa de abordagem qualitativa e descritiva14, que utilizou como ferramenta a pesquisa-ação15. Os participantes desse estudo foram 39 profissionais de quatro ESF de um município de Santa Catarina. A pesquisa contou com as categorias profissionais expostas abaixo no Quadro 1.
Quadro 1 – Caracterização dos participantes da pesquisa. Blumenau, Santa Catarina, Brasil - 2017.
A seleção das ESF aconteceu aleatoriamente, conforme os contatos aceitavam, o convite estendeu-se a todos os profissionais das equipes selecionadas. Os critérios de inclusão na pesquisa foram: ser profissional das ESF selecionadas, desejar participar do estudo, ter tempo e disponibilidade para participar da pesquisa. Os critérios de exclusão foram: não ser profissional das ESF selecionadas, recusa em assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) ou a autorização de gravação de voz, não desejar participar do estudo, não ter tempo e disponibilidade para participar da pesquisa.
A técnica de Grupo Focal (GF) foi escolhida para a produção de dados por ser capaz de auxiliar na análise de informações possibilitando a compreensão de percepções, crenças, atitudes sobre um tema, produto ou serviço. Para isso, foi fundamental que o pesquisador estabelecesse critérios predefinidos conforme os objetivos da pesquisa, criando um ambiente agradável e favorável à discussão, facilitando aos participantes expressarem suas percepções16 Foram realizados oito GF divididos em dois encontros com cada equipe. Houve um intervalo de um mês entre o primeiro e segundo encontro. No primeiro encontro, os profissionais foram estimulados a compartilhar suas práticas, expuseram os critérios de formação e organização dos grupos existentes nas unidades, dificuldades que identificavam, metodologias que utilizavam, resultados que percebiam, possibilitando a identificação da compreensão sobre grupos. Na segunda, foi realizada uma devolutiva a partir da pré-análise do encontro anterior e reflexões sobre as possibilidades de atuação em grupo. Orientados pelas prescrições do MS sobre o trabalho com grupos, debateram dois pontos que se destacaram no primeiro encontro pela dificuldade dos participantes em reconhecê-los: as teorias, metodologias e técnicas para a prática de grupos, discutiu-se brevemente sobre o GO de Pichon-Rivière enquanto técnica possível de aplicação; e a identificação da utilização de metodologias ativas e tradicionais, relacionando os recursos dos profissionais na prática de grupos. Após esse momento de conversa e reflexão sobre as práticas, utilizando uma cartolina dividida ao meio sob os temas ‘metodologia ativa’ e ‘metodologia tradicional’, a pesquisadora solicitou que a equipe identificasse as metodologias utilizadas nas práticas grupais em cada unidade e refletissem sobre as novas possibilidades no trabalho com grupos a partir das demandas do território atendido.
A duração dos GF foram, em média, uma hora e trinta minutos e aconteceram na estrutura física das ESF. A produção dos dados foi realizada após os esclarecimentos quanto aos objetivos da pesquisa aos participantes e o aceite se deu pela assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Para a realização dos GF, a pesquisadora moderou e contou com a participação de um relator, que a auxiliou na gravação de áudio e no registro de suas percepções. Utilizou-se o recurso fotográfico, para que os materiais produzidos ficassem registrados nessa pesquisa.
As falas foram transcritas e sistematizadas por meio da análise de conteúdo17 e descritas em três momentos organizadores da pesquisa: pré-análise do material; exploração do material; e, por fim, o tratamento dos resultados, inferências e interpretações. Esse processo de produção dos dados resultou nas seguintes categorias temáticas: as práticas e sua organização de grupos na atenção primária; o suporte teórico no trabalho com grupos das equipes de saúde da família; a utilização de metodologias para trabalho com grupos pelas equipes de saúde da família; e a percepção da necessidade de aprimorar a prática com grupos.
A fim de garantir o anonimato dos participantes da pesquisa, utilizou-se uma numeração aleatória escolhida pela pesquisadora junto da letra ‘P’ correspondente à palavra ‘Profissional’. As equipes de ESF receberam como codinome, as letras do alfabeto: ESF A; ESF B. ESF C e ESF D. Esta pesquisa seguiu os preceitos éticos exigidos pela resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, foi aprovada pelo comitê de ética da Universidade Regional de Blumenau (Furb) sob o parecer de nº 2.106.616, e é resultado parcial de dissertação de mestrado profissional em saúde coletiva.
AS PRÁTICAS: ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DE GRUPOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conforme os preceitos das Políticas de Saúde, as unidades pesquisadas cumprem o que está prescrito, em termos de critérios organizadores, os grupos citados são: doenças (diabéticos, hipertensos, saúde mental, obesidade), faixa etária (idade escolar: crianças e adolescentes), ciclos de vida (gestante e puericultura) e outros (atividade física e grupo de vivência – aberto à comunidade); ocasionalmente nomeados sem conotação direta com seu objetivo. Consoante ao que lhes é prescrito pelas políticas sobre a necessidade de vinculação entre profissionais e usuários utilizando-se dos espaços físicos da comunidade, os profissionais relataram utilizar alternativas como a igreja, escola, garagem de usuários, para a realização de grupos. Porém, Schwartz afirma que no trabalho há sempre o debate entre aquilo que é prescrito – o que o profissional deve fazer, e o que ele realmente faz, evidenciando a importância de dar atenção às condições humanas e estruturais frente a atividade de trabalho18.
Das quatro ESF pesquisadas, três realizavam grupos de gestante e puericultura. Na unidade sem práticas grupais a maioria dos profissionais referiram frustrações diante da pouca ou nenhuma adesão em tentativas anteriores:
“Eu estou há 10 anos aqui, […] e acho lamentável essa cultura do nosso bairro, que eles não aderem aos grupos” (ESFD/P10)
Alguns profissionais refletem frente à fragilidade de suas práticas:
“[…] Não sei se é só porque a comunidade não participa sabe, eu acho que a gente aqui do posto de saúde também deixa a desejar” (ESFD/P7)
Percebe-se o debate de normas acontecendo na produção e ação de pesquisa. Conforme apresentam suas experiências frustradas, outros apresentam as exitosas e a reflexão é transformada em protagonista, pois possibilita a compreensão de que o trabalho não se reduz a remuneração do serviço prestado, mas ocupa lugares relevantes na vida e na saúde dos trabalhadores. Nesse sentido, Schwartz e Durrive, propõe reflexões sobre o lugar do trabalho na vida dos seres humanos do ponto de vista da atividade. Com isso, a ergologia acredita “na potência humana de compreender e transformar o que está em jogo, reinventando, criando novas condições e um novo meio pertinente – a si e à situação.” 19. Yves Schwartz refere que o real valor do trabalho está imerso em espaços de debate e de escolhas dos trabalhadores; o que representa os usos de si que influenciam na maneira de se utilizar os saberes construídos13 Ou seja, conforme trabalha, o profissional faz escolhas para si e para o outro.
A coordenação dos grupos pode variar entre os profissionais, consoante seu interesse pelo tema pré-selecionado, sendo que alguns profissionais não se sentem preparados para as práticas grupais. Todas as equipes expressaram realizar um cronograma anual, definindo quem coordena os temas possíveis de mudança conforme as demandas, enquanto outros sugeriram elencar os assuntos a partir das sugestões dos usuários.
A vinculação entre profissionais e usuário, famílias e comunidade é um dos princípios básicos fundamentadores da ESF. Para Pichon-Rivière, no processo grupal – desde o contexto mais amplo aos microgrupos – o tema do grupo deve evidenciar a demanda dos integrantes e estar relacionado com o que ele denomina tarefa, para que a vinculação aconteça. No âmbito da saúde, a tarefa pode ser o aprendizado, a cura, o diagnóstico, o conforto, uma vez que faz menção à conexão entre as experiências, conhecimentos e afetos das pessoas no contexto de grupo em relação a determinado objetivo. É como uma “marcha do grupo em direção ao seu objetivo, é um fazer-se e um fazer dialético em direção a uma finalidade, é uma práxis e uma trajetória”. Para o autor, o sujeito é social e historicamente construído em uma constante dialética com o ambiente em que vive, ou seja, constrói o mundo à medida que nele se constrói20. O objetivo principal de um GO é promover um processo de aprendizagem, a fim de estimular a leitura crítica da realidade, a atitude investigadora, a abertura para as dúvidas e para as novas inquietações21. Com isso, o tema dado a princípio inviabiliza o processo dialético e coloca em risco o interesse dos participantes pelo tema escolhido, podendo ser motivador da pouca adesão.
Embora três ESF realizem grupos, são duas as unidades que realizam de forma contínua (com periodicidade semanal e mensal, na unidade). Nessas, a maioria dos profissionais relatam experiências anteriores, em outras unidades que atuaram. Pode-se pensar que as
experiências vivenciadas e descritas pelos profissionais possibilitaram a reflexão e construção de conceitos e normas sobre o trabalho com grupos, fundamental para desenvolver um olhar sensível à prática.
Todas as unidades participantes da pesquisa contam com um ou dois profissionais com alguma dessas especializações: Gerenciamento de Unidade Básica de Saúde – UBS, Saúde da Família, Saúde Pública, e experiência em Preceptoria na ESF (Quadro 1). Além de outros profissionais com formação de ensino superior e técnico, e outros profissionais como os Agentes Comunitários de Saúde – ACS, que recebem formação inicial para o trabalho na saúde. Em uma das equipes, um profissional referiu ter três das especializações e estava preparando-se para ingressar em mestrado em Saúde Pública. Outra equipe havia um profissional com duas especializações.
A linha cronológica do desenvolvimento dos atendimentos em grupo na saúde foi se construindo conforme surgiam novos formatos de organização. Hoje há uma vasta e multifacetada diversidade de dispositivos para trabalhar com grupos que são recursos para o profissional nessa área22. O GO é um dispositivo citado nos cadernos do MS, porém, dos 39 participantes da pesquisa, apenas dois conheciam sobre a técnica, mas nenhum conhecia por meio de PichonRivière, tampouco apontaram alguma teoria ou ferramenta para trabalhar com grupos.
Uma revisão bibliográfica sobre os GO no conceito de Pichon-Rivière constatou ser uma ferramenta terapêutica e pedagógica utilizada na promoção de saúde, sobretudo na saúde coletiva12. Embora os estudos demonstrem melhoras nas condições de vida e saúde do usuário, geralmente são voltados à eficácia do atendimento, já que há pouca produção sobre o conhecimento e entendimento da ferramenta para aquele que a utiliza, os profissionais de saúde, e aquele com quem é utilizado, os usuários.
Castanho discorre acerca do pouco conhecimento sobre GO pelos profissionais que atuam com pequenos grupos, sem embasamento teórico, trabalhando de modo empírico23. Isto é, evidenciado quando solicitados para exporem o conhecimento sobre teorias para o trabalho com grupos, e todos os profissionais responderam sobre planejamento, formação e organização de grupos por meio de suas vivências:
“Como eu te falei, de teoria a gente não tem nada, né. Só de prática.” (ESFC/P10)
“A gente não tem nenhum instrumento […] na faculdade a gente já ouviu, mas depois não tive mais isso conceitualmente, então…não sei um conceito teórico” (ESFD/P1).
Os recursos utilizados pelos profissionais para trabalhar com grupos referidos foram: suas experiências, pesquisas na internet, vídeos, livros, multimídia e troca de experiências com a própria equipe; recursos de teatro; informações do site do MS e material reciclado para artesanato; e redes sociais em que trocam ideias com outras unidades. No desenrolar dos GF, os profissionais foram pensando suas experiências com grupos, que consideravam importante a bagagem acadêmica para a atuação, mas que, geralmente, fundamentavam-se nas vivências individuais, engendrando novas práticas conforme suas necessidades. Alguns estudos1,24-25confirmam a constatação dos profissionais referente à relação do êxito obtido nas práticas grupais não depender somente do referencial teórico e metodológico, mas da disposição dos profissionais em aprender com as tentativas e erros.
Os estudos ergológicos que diferenciam o trabalho prescrito do trabalho real entendem a atividade humana como um constante ‘debate de normas’, já que considera tanto o uso de si pelos outros (exigências sociais) quanto a atividade vital, aquilo que move o sujeito na ação do trabalho (uso de si por si). Conforme esse sujeito atua em seu processo de trabalho, preenche-se de escolhas que promovem a criação e recriação das normas que antecedem o local de trabalho, formando um emaranhado de valores26. As recomendações do MS do GO como uma das ferramentas teórico metodológicas para o trabalho com grupos, podem ser chamadas de ‘prescrições’ exigidas ao profissional, porém “o trabalhador ressignifica o trabalho prescrito e produz o que resulta no trabalho real. Assim, a atividade realizada apresenta, invariavelmente, uma distância do trabalho prescrito e é sempre permeada por contradições e coincidências”27. Ou seja, o trabalho real, a ação do trabalhador na realidade e dentro de suas condições humanas e materiais, não é uma repetição do que é prescrito pois, na busca de uma melhor forma de realizar aquilo lhe é prescrito, o profissional é convocado a revisar e criar normas, à medida que recria a si mesmo13.
A aprendizagem formal jamais pode ser descartada, mas deve ser enriquecida de uma aprendizagem informal relativa ao que os trabalhadores criam e recriam nas suas próprias vivências26
A maioria dos profissionais alegaram não ter tido fundamentação teórica específica para o trabalho com grupos na graduação:
“Se não der certo, da outra vez a gente faz de outra forma, nem na faculdade tive esse tipo de informação: vamos sentar, vamos fazer, como fazer grupos, grupos terapêuticos, grupos de artesanatos” (ESFC/P10)
O referencial pode colaborar no alcance de resultados, uma vez que aqueles que trabalham com grupos precisam ter clareza sobre o que é o processo, a dinâmica e o
funcionamento grupal e apresentar domínio dos pressupostos epistemológicos que fundamentam suas práticas, a fim de ter condições seguras para planejar e elaborar sua intervenção seguindo uma linha de raciocínio28. Alguns pesquisadores29 sugerem essencial a formação de profissionais aptos a lidarem com os fenômenos grupais fundamentados em referencial teórico e prático consolidado, sobretudo na área da saúde, em que as produções coletivas, são uma realidade enquanto ferramenta terapêutica, ou como equipe de profissionais que se relacionam no trabalho. Contudo, as falas acima remetem a dois aspectos: a disposição do profissional à pesquisa e ao uso dos diversos postulados teóricos sobre grupos para dar suporte à sua atuação; e a evidente necessidade de um ambiente de trabalho que promova o debate de normas, que valorize a renormalização da prática no cotidiano. De um lado, os profissionais que atuam na área da saúde têm uma grande variedade teórica e metodológica para amparar suas ações; de outro, observase que as práticas no cotidiano do trabalho são deliberadas também pelas vivências particulares de cada território, em que não cabe a padronização, mas por seguir valores e normas além dos instituídos pela profissão, precisam ser pensadas, repensadas e articuladas em equipe.
Um profissional alegou capacitação há 18 anos e aprendeu várias técnicas, dinâmicas de grupo, teve aula de expressão corporal e teatro; outro referiu que há cinco anos realizava encontros mensais com seus pares, nos quais trocavam experiências; sugere que foi importante, pois estava iniciando na unidade básica e não sabia trabalhar em ESF. Os depoimentos dos profissionais demonstram a importância da escuta e do acolhimento das angústias das equipes.
Diante das vivências no GF, os profissionais refletiram sobre o próprio processo ensino-aprendizagem na atuação com grupos, constatando a necessidade do intercâmbio entre saberes técnicos e vivenciais entre equipes, por meio de capacitação teórica e vivencial, que dê espaço à criatividade e considere as particularidades de cada região e população atendida para que, com isso, surjam novas perspectivas de intervenção com grupos. Produzir reflexão sobre as demandas particulares de cada território, a fim de transformar em ações concretas é um grande desafio. Só é possível intervir na condição do trabalhador aproximando-se e compreendendo sua realidade, já que é ele, unicamente, que experimenta tal situação13
Fazer escolhas faz parte da rotina do trabalhador, visto que “escolher essa ou aquela hipótese é uma maneira de se escolher a si mesmo – e em seguida de ter que assumir as consequências de suas escolhas”13. Essas escolhas trazem consigo riscos de falhar, de se frustrar, de criar dificuldades, de não agradar, mas também trazem a possibilidade de renormatizar seu meio de trabalho.
Sobre metodologias de ensino e aprendizagem para trabalho com grupos, a maioria dos profissionais com especialização alegou algum conhecimento, sendo que o profissional com mais especialização referiu aplicar a metodologia ativa no seu processo de trabalho.
Percebe-se que os profissionais com mais especializações realizam grupos com um olhar aproximado das metodologias ativas, ainda que os demais profissionais das suas equipes não denominassem suas práticas assim, até o momento da pesquisa. O profissional que fez mais especializações apreendeu sobre metodologias ativas inserindo-as no seu trabalho e compartilhando seus conhecimentos com sua equipe, destacando-se na compreensão e segurança com que a equipe relata a atuação com grupos. Esta equipe sugere que tanto o processo grupal dos usuários quanto o processo de trabalho dos profissionais são ricos e prazerosos, sem as limitações do rigor imposto por uma formação tradicional, técnica, individualizada, voltada para o reforço dos estigmas das doenças.
A ESF mencionada utiliza o mesmo espaço físico de outra equipe, que justifica não trabalhar com grupos por não ter espaço físico adequado conseguindo superar a ideia de que o ambiente possa impedir sua realização e compondo com sua equipe estratégias voltadas ao lazer, ao lúdico, como o teatro, bingo, artesanato, entre outras possibilidades. Nesse sentido, o conhecimento parece permitir a essa equipe olhar para o processo de ensino-aprendizagem que envolve o trabalho na educação em saúde vinculando a participação ativa do usuário no seu processo saúde e doença ao estímulo pelo desejo de saber sobre si sem imposições, rótulos ou culpabilizações. Alguns relatos dessa equipe demonstram que mudar a metodologia e experimentar novas formas de trabalhar tem transformado a visão dos profissionais sobre grupos, conforme depoimentos:
“É porque a gente foi formada tradicional na faculdade. Aí o que a gente tá trazendo agora foi em uma pós que eu aprendi sobre as metodologias ativas. […] no fim virou uma forma de aproximar a gente e ter outro olhar. Aí a gente tinha um desafio de falarmos sobre alimentação saudável na creche. Nós pensamos: ‘Tá, e agora? Vamos lá ensinar criança. Vamos fazer uma palestra pra criança? Como é que nós vamos fazer isso? Né?!’ Criança tem que ser com música, com palhaço […] foi onde a gente buscou essa forma de mudar o jeito de ensinar, na verdade” (ESFA/P1)
Os profissionais dessa equipe relatam também que as diferenças entre as metodologias ficaram mais evidentes no “grupo de hipertensos e diabéticos” que realizavam há
bastante tempo, falavam sobre a doença no formato de palestra e percebiam desinteresse nos participantes, já não sabiam mais o que falar:
“Eles iam lá por obrigação, […] eles estavam dormindo na palestra, então […] a gente começou a pensar: onde a gente está chegando com isso? O nosso objetivo, nós estamos atingindo?” (ESFA/P1).
Contaram que a partir desse questionamento resolveram mudar a metodologia, mas não sem enfrentar dificuldades na compreensão sobre o trabalho com grupos:
“A questão dos grupos é um grande desafio pra nós profissionais e também para a comunidade, pelo fato de que a gente tem identificado que a forma tradicional […] não tem dado muito certo, como era logo que a gente iniciou na ESF né, a gente foi percebendo que onde existe a palestra, as pessoas não participam e acaba ficando muito cansativo” (ESFA/P1).
Com este grupo, passaram a fazer atividades lúdicas como bingos, jogos de memória, compartilhamento de lanche. Atualmente o grupo é aberto para a comunidade, heterogêneo, sob responsabilidade das ACS, focado na saúde e qualidade de vida dos usuários, acolhedor das queixas e demandas espontâneas que surgem no processo grupal, ao mesmo tempo que os usuários estão imersos no convívio de relações sociais importantes. Ao descreverem entusiasmados as mudanças ocorridas a partir de então, enfatizam a alta adesão, visto que chegam a ter cerca de quarenta participantes. Sobre a percepção que apresentaram nessa transformação, um dos profissionais completa:
“[…] onde um detém o saber não é uma coisa construtiva pra questão dos grupos né, então a gente começou a tentar mudar um pouco essa parte, […] é… tentar fazer com que as pessoas participem, tentar resgatar, fazer com que elas tenham uma reflexão sobre aquele assunto” (ESFA-P1).
Sobre esse cenário de transformação da realidade, “[…] a ideia de atividade é sempre um ‘fazer de outra forma’, um ‘trabalhar de outra forma”13. Ou seja, os trabalhadores aqui reorganizaram o que lhes estava prescrito fazendo escolhas a partir das suas experimentações. Esse movimento para a transformação mostra que o profissional utiliza mais que os conceitos do
conhecimento teórico na ação do trabalho, pois inevitavelmente são tecidos pelas experiências vivenciais que influenciam esta ação.
Enfatizam que as mudanças não se dão apenas pela metodologia utilizada, mas pela motivação, intenção e disposição política daquele que a utiliza – o educador, o profissional da saúde. “Um educador comprometido com a transformação social pode fazer de uma aula expositiva um momento de diálogo, enquanto o comprometido com a manutenção pode manter relações de opressão na roda de conversa, por exemplo.”30
Ao passo que os profissionais descreveram seus métodos, foi-se identificando as diferentes atuações em grupo entre aqueles que coordenavam este trabalho com prazer e com criatividade, aqueles que declaravam não gostar de atuar em grupos, aqueles que temiam não saber coordenar e sentiam-se inseguros, também foi se desenhando as metodologias tradicional e ativa, bem como se percebeu a partir dessas experiências, os resultados, principais dificuldades e desafios. Desse desenho, os profissionais, com mediação da pesquisadora, construíram as subcategorias a partir da identificação das diferenças nas práticas compartilhadas em GF:
Metodologia tradicional no trabalho com grupos das equipes de saúde da família
A grande maioria dos profissionais identificou a metodologia tradicional à realização de palestras sobre temas predefinidos geralmente direcionados à doença. Relacionam a metodologia à pouca adesão e que geralmente as pessoas não participam expondo suas ideias, tornando-se passivas. Alguns mencionam que é desconfortável e desinteressante de participar, tanto para o coordenador quanto para o usuário:
“Por vezes o assunto não é do interesse do grupo, é imposto um tema, são os profissionais que querem que eles aprendam e mudem. Alguns chegam atrasados sempre, porque não querem ouvir” (ESFA/P8),
A maioria dos participantes referiu sobre o profissional ser o locutor e deter o saber nesse método, então, aquele que está ‘capacitado’ passa as informações técnicas e teóricas, retira dúvidas dando respostas e ensina conteúdo. Dois profissionais de unidades diferentes confirmam a percepção de que este não é um método construtivo:
“É como uma aula onde o usuário tem que ficar quieto escutando um repasse de conhecimento, que na maioria das vezes foca nos problemas, na doença” (ESFB/P5),
Todas as equipes associam à metodologia tradicional o fato de relacionarem a participação nos grupos à consulta médica e à barganha: chantagens, brindes, passeios, lanches, lembrancinhas, entrega de fitas de glicemia, arrecadação financeira, alegando como recursos de estímulo.
“A regra é praticamente não aparecer ninguém se você não oferecer ou impor alguma coisa em troca” (ESFD/P6)
Todas as equipes identificaram nas suas práticas pelo menos um grupo voltado para a metodologia tradicional, geralmente vinculados à consulta médica.
Todas as ESF pesquisadas identificaram que já fizeram ou fazem grupos usando metodologia tradicional, pelo fato de acreditarem que precisa ter conhecimento técnico sobre as doenças para dar respostas às questões do grupo, logo, estes profissionais não se sentiam habilitados nesse formato e não se autorizavam, ao mesmo tempo que não eram autorizados uns pelos outros, a assumir a coordenação de um grupo. Os termos ‘palestra’ e ‘frustração’ dos profissionais aparecem sempre associadas à baixa adesão do usuário.
Metodologia ativa no trabalho com grupos das equipes de saúde da família
Os aspectos mais relacionados à metodologia ativa foram: “ambiente prazeroso”; “gostoso de participar”; gera aprendizado em ambos, usuário e profissional; escuta das demandas do grupo; compartilhamento de experiências; maior adesão; o próprio processo grupal como estímulo para os usuários, prazer de estar interagindo, compartilhando, socializando e não apenas recebendo algo em troca como garantia de participação no grupo. As falas voltadas à metodologia ativa são constantes principalmente na ESFA, como podemos observar:
“Quando a gente vê a sala cheia, digamos assim, é bem gratificante porque daí a gente entende que […] a gente tá conseguindo atingir o objetivo e o interesse” (ESFA/P6)
“Na verdade, eu acho que um aprende com o outro nos grupos e a gente acaba aprendendo também” (ESFA/P2).
Alguns realizam atividades ou oficinas relacionadas ao uso da criatividade, com brincadeiras, dramatização, teatro, contação de histórias como forma de abordar um assunto de modo descontraído, e que auxilie o usuário a pensar sobre sua vida. Um dos participantes relata:
“Eles não vêm buscar a palestra, vêm buscar o encontro, o lazer, o companheirismo, a dança, o artesanato, a socialização, algo que fuja da rotina” (ESFC/P5).
A utilização desses dispositivos parece permitir ao profissional provocar reflexão ao usuário, ajudar as pessoas a pensarem sobre sua vida, questionando-as para que elas se entendam e tenham autonomia para cuidar de si. Outro profissional refere que é importante ajudar o usuário a sair da passividade
“Os questionamentos não necessariamente precisam ser voltados à doença, se estendendo a todas as questões da vida” (ESFA/P8).
Alguns participantes mencionaram que cabe ao profissional analisar o interesse do grupo, escutando com atenção a demanda, já que aqui o tema é uma decisão compartilhada. Nessa metodologia o profissional é facilitador e se autoriza não saber sobre tudo, não foca na doença. Duas equipes referem que promover a interação entre as pessoas é a intenção da metodologia, pois é uma oportunidade de se aproximar do usuário, melhorando o vínculo e ajudando a conhecer o jeito de ser de cada um:
“Eu acho que a gente consegue com essa metodologia […] que eles levem mais coisa pra casa, uma mensagem melhor do que se a gente ficasse ali falando e falando” (ESFA/P3).
É possível perceber que os grupos com maior tempo de continuidade são os que utilizam metodologia ativa, ou intercalam entre as duas metodologias; enquanto a ESF que não utiliza a metodologia ativa não tinha nenhum em funcionamento. Percebe-se que os profissionais da ESFA que utilizam a metodologia ativa na prática, apresentam facilidade de reconhecê-la e descrevê-la.
Alguns profissionais apontam que mesmo sendo mais cansativo trabalhar com a metodologia ativa, é mais satisfatório e os objetivos são atingidos:
“Precisamos estar dispostos a refletir sobre o que surge e lidar com o inesperado” (ESFA/ P3).
Ao longo das discussões, foi-se localizando o GO como dispositivo possível de ser utilizado dentro desse método, visto que ambos entendem que o trabalho em grupo deve,
além de possibilitar a interação entre as pessoas, valorizar o repertório de cada participante: seus conhecimentos e suas experiências ao longo de sua trajetória de vida, assim, conforme compartilham, aprendem com o outro e ensinam11. Essa forma dialética de ensinar e aprender vai ao encontro com o que é proposto pelas metodologias ativas que, relacionadas à vinculação e à tarefa formulados por Pichon-Rivière, possibilita construir teorias, metodologias e técnicas para prescrições do MS e diretrizes do SUS.
A percepção da necessidade de aprimorar a prática com grupos Os profissionais da ESFA constataram que, a partir do debate de normas a que se propuseram, modificaram a prática dos grupos e alcançaram alguns resultados como: aumento do número de participantes, maior frequência e envolvimento dos usuários, relatos de usuários referem melhora na situação de saúde, formação de vínculo entre usuários e profissionais. Percebe-se que a escolha por produzir de outras formas na atividade, promoveu renormalizações. A mobilização dos profissionais atuando com seus saberes favoreceu a reflexão na perspectiva de mudanças na metodologia de trabalho e colaborou para que atingissem seus objetivos. Sendo assim, os saberes e competências construídos no próprio processo de trabalho, movido pela atividade humana, tornou-os responsáveis pela eficácia do trabalho13
A ESFB reconhece a dificuldade em dar continuidade nos grupos e, pressionados pela demanda, priorizam os atendimentos individuais. Descrevem a preocupação em cumprir o que lhes foi prescrito e, por outro lado, sentem que, de alguma forma, a comunidade está sendo atendida nessa modalidade. Observa-se a elaboração sobre a função das metodologias, métodos e técnicas no trabalho com grupos por meio de relatos que identificam e comparam, por exemplo, o uso da metodologia tradicional, com um grupo de adolescentes na escola com o tema ‘drogadição’, sob demanda dos professores, em um formato de palestra – focando no problema com adolescentes que já estavam envolvidos com drogas. Referiram que foi uma experiência muito pesada e traumática para os profissionais que coordenaram, pois os adolescentes apresentaram muitas perguntas e os profissionais dessa ESF entendiam que precisavam respondê-las. Por estarem numa comunidade cujo acesso às drogas é facilitado, os adolescentes mostraram que conheciam ou fantasiavam sobre o assunto. Após esta experiência, a equipe repensou a proposta, evitando a estigmatização, envolvendo todos os adolescentes, logo ao invés de focar no problema, discutirão sobre sonhos, possibilidades e expectativas de futuro, pensando na prevenção.
A percepção sobre o formato do grupo e a demanda dos adolescentes possibilitou que a equipe conduzisse seu trabalho para o futuro, desprendendo da problemática, mas trabalhando-a indiretamente. Enfatizaram que a nova proposta está vinculada à metodologia ativa. Este clima de
compartilhamento de experiências e ressignificação do trabalho com grupos durante a pesquisa possibilitou à equipe explorar seu potencial criativo produzindo novas possibilidades de trabalho, a fim de colocar em prática com ou sem ação dos acadêmicos. Aqui a dimensão da atividade humana, é percebida por meio da criação e recriação do trabalhador diante das exigências do trabalho mediada pela diversidade de possibilidades de escolhas e de debates de normas18 Ainda nessa equipe, uma profissional referiu ter tido capacitação em outro município para o trabalho com grupos de tabagismo e, durante o GF, outro profissional pontuou:
“P8: Tu tens curso? P2: Tenho. P8: Meu Deus a gente pode montar o grupo aqui de tabagismo” (ESFB/P2 e P8).
O diálogo mostra a importância dada pela fundamentação teórico-metodológica, mas vivencial, que oriente e organize a prática e a segurança profissional na atuação com grupos. Para Canguilhem, é da reação do sujeito diante das normas que surge a oportunidade do debate de normas resultando na sua reinvenção, promovendo a renormalização. É perceptível que os trabalhadores renormalizam e recriam regras na situação de trabalho, de modo que não exista apenas o cumprimento das ações, mas um uso de si26
A ESFC construiu importantes reflexões sobre suas práticas e processo de trabalho, que auxiliaram na compreensão das próprias queixas frente à adesão e responsabilização da comunidade diante do desinteresse, localizando-se como os formatos e métodos de atendimentos praticados refletem na participação dos usuários. Das reflexões foi estimulada a interação entre os participantes, que demonstram resgate de esperança:
“Esse é o modelinho que a gente fez, a garrafinha furadinha. Pra cada um guardar na sala de aula, sua escovinha e tal. Porque nem todos tinham a capinha pra guardar né. Então identificava […] com uma foto, mas a coisa não anda. Podia lançar de novo né? São outros professores” (ESFC/P7).
O debate da equipe destacou alguns projetos como o citado acima, mas pensados por meio de um novo formato.
A equipe de ESFD demonstrou certa dificuldade no entendimento do trabalho com grupo que objetiva trabalhar com promoção da saúde e pareceu uma equipe desconexa, individualizada, limitada a cumprir as prescrições, priorizando o atendimento individual.
“[…] Eu sou sincera em dizer que a minha vontade de partir para realizar um grupo […] é bem pouca. Como disseram, a gente começa a se desiludir, a cansar e outro detalhe também, a gente assume muita coisa dentro da unidade, realmente, a gente não participa, e as vezes a gente até se cobra isso. Talvez nós pecamos nesse sentido, a gente deveria deixar lá fora, pra vir pro grupo. Nós teríamos que rever nossas agendas de atendimento pra poder fazer grupo? Talvez. Ter um pouco mais de vontade? Também. Eu acho que a gente tem um espelho nosso, eu sei da minha parte mas também, se tu tens retorno tu tens vontade, se não tens retorno não tens vontade.” (ESFD/P7)
Inicialmente, a tarefa de elencar possíveis grupos pareceu mais complexa para esta equipe, porém, os profissionais estavam abertos para o debate sobre a perspectiva de construir possibilidades de novas práticas grupais. O fato de a equipe não atender em grupo e relatar experiências fracassadas, bem como o fato de palavras como ‘tentativas e frustração’ forem as mais citadas pela maioria dos profissionais, pode ter conduzido para uma condição mais fragilizada de escuta de si e do outro. Este foi o grupo que mais elencou grupos na metodologia tradicional, e ao refletir sobre a metodologia ativa, uma das profissionais expõe:
“É diferente de quando a gente organiza um grupo, que “Ah hoje vamos falar da…”. Isso me deixa um pouco angustiada, eu não sou acostumada com essa metodologia. Essa coisa do imprevisto sabe, eu troquei uma ideia com as meninas da psicologia: “tá, e assim, se tratando de saúde a gente logo pensa, tinha que ter […] pelo menos um psicólogo que saiba lidar mais com essas questões.” E aí eu ainda contei pra elas e “tá, vocês acham que a gente dá conta?” (ESFD/P1)
Percebe-se a insegurança na atuação e coordenação de grupos. Esta profissional refere por vezes que a escuta é papel da psicologia, demonstrando suas dificuldades em lidar com as mais variadas angústias dos usuários, enquanto outros profissionais estão dispostos a pensar, falar e repensar sobre isso:
“[…]se eu sou profissional de saúde, o paciente vem aqui, em busca de um auxílio, de uma solução pro problema dele. Ao menos que seja algo fisiológico e tal, mas quando é uma questão de vivência, do emocional dele a gente não vai ter uma resposta imediata, uma solução. Mas parece que aquilo tá introspectado na gente
que tem que responder algo. […] E é de onde vem a frustração, porque tu não vai ter a resposta.” (ESFD/P3)
“E a gente mesmo se cobra que não tem resposta. […] elas gostam do grupo pelo fato de terem um espaço para conversar e não necessariamente estão esperando resposta.” (ESFD/P1)
A mesma profissional, imersa nas reflexões que fazia ao relacionar os métodos de trabalho, identificou em sua bagagem de conhecimento uma experiência com a metodologia ativa:
“Eu fiz uma capacitação […] eles deram na metodologia ativa. E eu penei horrores, porque eu não tive isso, o cérebro não foi doutrinado desse jeito, e não é fácil. Eu cresci sentada na sala de aula, a minha faculdade toda foi na metodologia tradicional […].” (ESFD/P10)
A reflexão permitiu a sensibilização e o despertar do interesse dos profissionais pelas práticas com grupos.
Os profissionais buscaram motivar uns aos outros para transformar os grupos do método tradicional em metodologia ativa, promovendo mudanças e resgate do interesse, desejo e satisfação – singular e coletivo –, bem como em resultados obtidos segundo os objetivos. Percebeu-se que a produção de possibilidades para a atuação com grupos foi na direção da superação das limitações singulares de cada profissional e, principalmente, das condições de cada unidade lidar com o entrave correspondente ao que lhes é prescrito de forma rígida.
Os profissionais sugeriram que o tema ‘práticas de grupos’ fosse contemplado na agenda das atividades realizadas nas unidades para o próximo semestre.
Esta pesquisa permitiu que os profissionais descrevessem e refletissem sobre as suas práticas com grupos. Foi percebido que as práticas grupais estão presentes no processo de trabalho de algumas equipes. Os profissionais não reconheceram as teorias de grupo existentes e não as identificaram em seu processo de trabalho. Algumas equipes circularam pelas metodologias ativas e tradicionais de ensino, dependendo do grupo e dos profissionais que coordenaram; a metodologia tradicional foi apontada como a mais utilizada; apenas uma equipe participante reconheceu utilizar a metodologia ativa, tendo ela como objetivo no processo de trabalho. Esta última descreveu resultados positivos, enquanto as demais associaram a metodologia
tradicional à falta de adesão e à frustração profissional na realização de atendimento em grupo. Portanto, o conhecimento teórico e vivencial colabora para fortalecer e modificar as práticas, gerando melhores resultados.
As reflexões produzidas no processo dos GF somadas à atividade de identificação das metodologias e registro em cartolinas facilitaram a reflexão sobre práticas com grupos entre os participantes da pesquisa. Portanto, a metodologia usada na pesquisa criou lugares para o debate das normas e valores, a fim de pensar e intervir nas situações do trabalho com grupos desses profissionais.
Com relação à função de pesquisa e ação, os GF também permitiram às equipes uma experiência teórica e vivencial, cujo diálogo e elaborações produzidas sobre as práticas propiciou um processo de desconstrução e reconstrução desses saberes. Logo, as equipes enquanto grupos vivenciaram o próprio processo e nele desenvolveram competências. Além disso, os profissionais compreenderam a existência de inúmeras ferramentas para instrumentalizar profissionais a conduzirem e compreenderem o processo grupal, entre eles o GO.
Diante do contexto estudado, há uma demanda a ser considerada que condiz na identificação da necessidade de apoio para os profissionais e de continuação desse espaço de debate de normas criado e proporcionado pelos encontros durante este estudo. Além do aprofundamento no debate das práticas na educação permanente desses profissionais, há de se reconhecer a relevância de inserir nos currículos acadêmicos dos cursos da saúde (técnico e superior), disciplinas e experiências que preparem os futuros profissionais para lidar com os fenômenos grupais e para que tenham suas práticas embasadas em algum referencial teóricoprático consolidado.
As equipes identificaram a importância do dispositivo de grupo na promoção da saúde, pensaram sobre a prática e demonstraram interesses em se aprofundar na temática, não apenas teoricamente, mas sobretudo no compromisso de dar continuidade na reflexão iniciada na pesquisa, promovendo novas práticas.
O planejamento, execução e análise do estudo envolveram várias etapas em que, fundamentalmente, houve interações entre o pesquisador e os participantes. Portanto, o estudo apresenta algumas limitações na precisão das informações, uma vez que permite uma análise subjetiva cuja interpretação é do pesquisador.
A definição e o tamanho da amostra também são fatores limitantes. Embora a escolha das ESF tenha sido feita de forma aleatória e o convite estendido a todos os profissionais de saúde da unidade, não foi possível que todos participassem dos dois encontros, havendo a falta de alguns participantes. Outra limitação se refere ao tamanho da amostra, pois seu
número reduzido permite considerar os resultados encontrados apenas para a população em questão. Além disso, seria de significativa importância que houvesse um terceiro encontro para evoluir na construção de possibilidades de intervenção em grupos, utilizando a riqueza de informações e o interesse pela ampliação de conhecimento dos profissionais no contexto de grupos. Porém, o tempo encurtado, diante de imprevistos e mudanças necessárias ao longo do estudo, impossibilitou esta continuidade.
1. Concepção do projeto, análise e interpretação dos dados: Mariane Bittencourt, Artur Cucco e Judite Hennemann Bertoncini.
2. Redação do artigo ou revisão crítica relevante do conteúdo intelectual: Mariane Bittencourt e Judite Hennemann Bertoncini.
3. Revisão e/ou Aprovação final da versão a ser publicada: Mariane Bittencourt, Judite Hennemann Bertoncini e Claudia Regina Lima Duarte da Silva.
4. Responsável por todos os aspectos do trabalho na garantia da exatidão e integridade de qualquer parte da obra: Mariane Bittencourt e Judite Hennemann.
1. Camargo AM, Berberian AP, Silva V, Wolff DG, Soares VMN, Gonçalves CGO. Abordagens grupais em saúde coletiva: a visão de usuários e de profissionais de enfermagem. Rev Bras Ciência Saúde, 2012;10(31):1-9.
2. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: Diabetes Mellitus. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2013.
3. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Caderno de atenção básica: saúde mental. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2013.
4. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2010.
5. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Departamento de Gestão em Saúde. Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2009.
6. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Núcleo Técnico da Política Nacio de Humanização. Humaniza SUS: política de humanização. Brasília (DF): Ministério Da Saúde; 2003.
7. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Plano de reorganização da atenção à hipertensão arterial e ao diabetes mellitus: hipertensão arterial e diabetes mellitus / Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2001.
8. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise de Situação de Saúde. Plano de ações estratégicas para o enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil 2011-2022. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2011.
9. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Caderno de atenção básica: estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2014.
10. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde mental / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2013.
11. Pichon-Rivière E. O processo grupal. São Paulo (SP): Martins Fontes; 1998.
12. Menezes KKP, Avelino PR. Grupos operativos na Atenção Primária à Saúde como prática de discussão e educação: uma revisão. Cad Saúde Colet. 2016;24(1):124-30.
13. Schwartz Y. O trabalho se modifica. In: Schwartz Y, Durrive L, organizadores. Trabalho e ergologia: conversas sobre a atividade humana. Niterói (RJ): EDUFF; 2007.
14. Barros AJS, Lehfeld NAS. Fundamentos de Metodologia Científica. São Paulo (SP): Prentice-Hall; 2007.
15. Thiollent M. Metodologia da pesquisa-Ação. São Paulo (SP): Cortez; 2011.
16. Ryan KE, Gandha T, Culbertson MJ, Carlson C. Focus Group Evidence Implications for Design and Analysis. Americ J Evaluation. 2014;35(3):328-45.
17. Minayo MCS. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. São Paulo (SP): Hucitec; 2013.
18. Schwartz Y. Circulações, dramáticas, eficácias da atividade industriosa. Rev Trab Educ Saúde. 2014;2(1),33-35.
19. Schwartz Y, Durrive L. Trabalho & Ergologia: conversas sobre a atividade humana. Rio de Janeiro: Editora EdUFF; 2007.
20. Pichon-Rivière E. Teoria do vínculo. São Paulo (SP): Martins Fontes; 1998.
21. Gauotto MLC, Domingues I. Liderança: Aprenda a mudar em grupo. Petrópolis (RJ): Vozes; 1995.
22. Zimmerman DE. Fundamentos técnicos. In: Zimerman DE. Como trabalhamos com grupos. Porto Alegre (RS): Artes Médicas; 1997.
23. Castanho P. Uma Introdução aos Grupos Operativos: Teoria e Técnica. Vínculo. 2012;9(1):47-60.
24. Ferreira NJL, Kind L. Práticas grupais como dispositivo na promoção da saúde. Physis. 2010;20(4):1119-42.
25. Alves LHS. Grupo de promoção da saúde na Estratégia Saúde da Família: a visão dos profissionais e dos usuários. Dissertação [Mestrado em Enfermagem] – Universidade Federal de Santa Catarina; 2010.
26. Canguilhem, G. Meio e normas do homem no trabalho. Proposições. 2001;12(2-3):35-6.
27. Bertoncini JH. Entre o prescrito e o real: renormalizações possíveis no trabalho da enfermeira na Saúde da Família. Tese [Doutorado em Enfermagem] –Universidade Federal de Santa Catarina; 2011.
28. Motta KAMB, Munari DB, Leal ML, Medeiros M, Nunes FC. As trilhas essenciais que fundamentam o processo e desenvolvimento da dinâmica grupal. Rev Eletrônica Enferm. 2007;9(1):229-41.
29. Feuerwerker L. Mudanças na formação dos profissionais de saúde: alguns referenciais de partida do eixo Trabalho em Saúde. In: Capozzolo AA, Casetto SJ, Henz AO, organizadores. Clínica comum: itinerários de uma formação em saúde. São Paulo (SP): Hucitec; 2013.
30. Simon E, Jezine E, Vasconcelos EM, Ribeiro KSQS. Metodologias ativas de ensinoaprendizagem e educação popular: encontros e desencontros no contexto da formação dos profissionais de saúde. Interface. 2014;18(2):1355-64.
Recebido: 20.4.2018. Aprovado: 24.5.2022.
Kleber Proietti Andradea
https://orcid.org/0000-0003-0043-1401
Larissa Dimas Barbosab
https://orcid.org/0000-0001-7440-5412
Larissa Ellen Ciribelic
https://orcid.org/0000-0002-3497-9056
Lélia Cápua Nunesd
https://orcid.org/0000-0002-2651-7572
Resumo
O objetivo do estudo foi analisar a tendência da mortalidade por tuberculose em adultos, por sexo, de dez capitais brasileiras, no período de 1996 a 2018. Para tanto, foi realizado um estudo ecológico de séries temporais, a partir de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e do Sistema de Informações sobre Mortalidade. Os coeficientes de mortalidade por tuberculose respiratória em adultos, por 100.000 habitantes, foram calculados e padronizados pelo método direto, por idade e sexo (feminino, masculino e ambos). A tendência temporal da mortalidade foi analisada pelo método de Prais-Winsten. Recife, Rio de Janeiro e Salvador apresentaram os maiores coeficientes médios de mortalidade no período. A razão entre os coeficientes médios de mortalidade por sexo foi maior entre homens. A tendência de mortalidade por tuberculose foi decrescente e significativa para todas as capitais entre homens, mulheres e população total, com exceção de Fortaleza. A maior redução percentual anual foi encontrada em Curitiba. Apesar de serem
a Médico. Residente em Medicina de Família e Comunidade na Secretaria Municipal de Saúde de Governador Valadares, Governador Valadares, Minas Gerais, Brasil. E-mail: kleberproietti@gmail.com
b Médica. Residente em Infectologia na Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, Minas Gerais, Brasil. E-mail: larissadimas.med@gmail.com
c Médica. Residente em Clínica Médica na FAMESP. Bauru, São Paulo, Brasil. E-mail: larissa.eciribelipereira@gmail.com
d Nutricionista. Doutora em Saúde Coletiva. Docente na Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus Governador Valadares, Governador Valadares, Minas Gerais, Brasil. E-mail: lelia.capua@ufjf.br
Endereço para correspondência: Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus Governador Valadares. Departamento de Medicina. Rua 07 de setembro, 330 (sala 301), Centro. Governador Valadares, Minas Gerais, Brasil. CEP: 35010-177. E-mail: lelia.capua@ufjf.br
observadas tendências decrescentes da mortalidade em adultos para a maioria das capitais, as taxas ainda permanecem expressivas e foram apresentadas tendências estacionárias para Fortaleza, na população geral e sexo masculino.
Palavras-chave: Mortalidade. Tuberculose. Epidemiologia. Estudos de séries temporais.
TUBERCULOSIS MORTALITY TREND IN ADULTS, IN TEN BRAZILIAN CAPITALS (1996-2018)
Abstract
This study was analyzes the tuberculosis mortality trend in adults, by gender, from 1996 to 2018, in ten Brazilian capitals. A time series ecological study was conducted based on data obtained from the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) and the Mortality Information System (SIM). Mortality rates for respiratory tuberculosis in adults, per 1000,000 inhabitants, were calculated and standardized by age and gender (male, female, and both) using the direct method. Mortality time trend was analyzed using the Prais-Winsten regression method. Recife, Rio de Janeiro and Salvador showed the highest average mortality rates in the period. The ratio of average mortality rates by gender was higher among men. The trend in tuberculosis mortality was downward and significant for all capitals among men, women, and the total population, except for Fortaleza. Curitiba had the highest annual percentage drop. Despite the decreasing mortality rates observed in adults for most capitals, they remain expressive and even presented a stationary behavior in Fortaleza, among the general population and men.
Key words: Mortality. Tuberculosis. Epidemiology. Time series studies.
TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR TUBERCULOSIS EN ADULTOS DE DIEZ CAPITALES BRASILEÑAS, 1996-2018
Resumen
El objetivo de este estudio fue analizar la tendencia de la mortalidad por tuberculosis en adultos según sexo en diez capitales brasileñas en el período de 1996 a 2018. Se realizó un estudio ecológico de series temporales, a partir de datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística y del Sistema de Información sobre Mortalidad. Los coeficientes de mortalidad por tuberculosis respiratoria en adultos, por 100.000 habitantes, fueron calculados y estandarizados por el método directo, según edad y sexo (femenino, masculino y ambos). La tendencia temporal de la mortalidad se analizó con el uso del método de Prais-Winsten. Recife, Río de Janeiro y
Salvador presentaron los mayores coeficientes medios de mortalidad en el período. La razón entre los coeficientes medios de mortalidad según sexo fue mayor entre hombres. La tendencia de la mortalidad por tuberculosis fue decreciente y significativa para todas las capitales entre hombres, mujeres y la población total, con excepción de Fortaleza. La mayor reducción porcentual anual se encontró en Curitiba. Aunque se observan tendencias decrecientes en la mortalidad de adultos para la mayoría de las capitales, las tasas siguen siendo expresivas y se presentaron tendencias estacionarias para Fortaleza en la población general y el sexo masculino.
Palabras clave: Mortalidad. Tuberculosis. Epidemiología. Estudios de series temporales.
A Organização Mundial da Saúde (OMS)1 estimou, em 2016, a ocorrência de 10,4 milhões de casos de tuberculose no mundo, dos quais 10% eram pessoas com soropositividade para o vírus da imunodeficiência humana (HIV). A doença é mais comum entre homens do que mulheres e afeta, principalmente, adultos nos grupos etários economicamente mais produtivos1,2
A mortalidade por tuberculose foi estimada em 1,3 milhão em 2016, com adicionais 374 mil mortes por tuberculose associadas ao HIV1.
A facilidade de mobilidade da população, a urbanização acelerada e o crescimento populacional, contribuem para uma distribuição desigual dos principais determinantes sociais da tuberculose, como insegurança alimentar e má nutrição, moradia precária, condições ambientais e barreiras financeira, geográfica e cultural de acesso aos serviços de saúde3
O Brasil figura entre os 24 países de maior carga de tuberculose, porém, entre estes, apresentou os menores coeficientes de incidência e mortalidade para 20161. A estimativa brasileira foi de 42 casos novos por 100.000 habitantes e 2,6 óbitos por 100.000 habitantes1.
Aproximadamente 70% dos casos estão concentrados em 315 municípios, que incluem grandes cidades e capitais, consideradas prioritárias para o controle da doença4. Apesar do aumento das mortes entre idosos por influência da transição demográfica e fatores epidemiológicos5, a maior proporção de óbitos por tuberculose no país, de 1996 a 2013, ocorreu entre adultos6.
A maioria das mortes por tuberculose é evitável1,2 e os óbitos em adultos, em uma das fases de maior produtividade social, provoca grande impacto social e econômico7, o que demonstra a relevância da observação do comportamento da mortalidade por tuberculose nessa faixa etária, para contribuir para a qualificação dos serviços de saúde e orientar a formulação de programas e políticas públicas. Dessa forma, o objetivo desse estudo foi analisar a tendência da mortalidade por tuberculose em adultos, por sexo, de dez capitais brasileiras, no período de 1996 a 2018.
Foi realizado um estudo ecológico espaço-temporal, exploratório, com base em dados populacionais e de óbitos por tuberculose respiratória de adultos (20 a 59 anos) de dez capitais brasileiras (Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São Paulo (SP)), durante o período de 1996 a 2018. As dez capitais foram selecionadas sob o critério de serem as mais populosas do país, segundo dados do censo brasileiro de 2010, e estão localizadas nas cinco regiões brasileiras.
O ano de 1996 foi definido como início da série histórica para minimizar erros na interpretação dos resultados, uma vez que na 9ª revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID-9), vigente até 1995, a maioria dos óbitos por AIDS foi codificada por causas concomitantes, incluindo a tuberculose8
Os dados de óbitos por tuberculose foram coletados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde9, segundo a 10ª revisão da Classificação internacional de Doenças (CID-10): A15-Tuberculose respiratória, com confirmação bacteriológica e histológica; A16-Tuberculose das vias respiratórias, sem confirmação bacteriológica ou histológica.
Os dados populacionais foram obtidos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da página eletrônica do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus)10. Foram utilizados dados oriundos dos censos (2000 e 2010), contagem populacional (1996), estimativas e projeções intercensitárias (demais anos).
Os coeficientes de mortalidade por tuberculose foram calculados para cada ano investigado, a partir da fórmula: número de óbitos por tuberculose respiratória em indivíduos de 20 a 59 anos/ população adulta x 100.000. A padronização dos coeficientes foi realizada pelo método direto, por faixa etária e sexo, considerando a população brasileira do Censo de 2010 como população padrão. Todas as etapas de coleta e tabulação dos dados foram realizadas por meio de entrada dupla, a fim de aumentar a qualidade do estudo.
Inicialmente, foi realizada observação descritiva do comportamento da mortalidade por tuberculose, com cálculo dos coeficientes médios padronizados nos anos estudados e da razão entre esses nos sexos masculino e feminino.
Para análise das tendências temporais foi empregado o método de Prais-Winsten. Os coeficientes padronizados de mortalidade por tuberculose log-transformados foram considerados como variável dependente (Y) e os anos-calendário de estudo como variável independente (X).
A tendência foi considerada significativa quando p<0,05. Foram calculadas as variações anuais dos coeficientes de Análise por Principais Componentes (APC) e respectivos intervalos de confiança.
A análise dos coeficientes médios de mortalidade padronizados mostrou que Recife apresentou a maior média total de mortalidade por tuberculose no período estudado (9,5/100.000 habitantes), seguido por Rio de Janeiro e Salvador. Arranjo semelhante foi observado para o sexo feminino (3,8/100.000; 3,1/100.000; 3,0/100.000, respectivamente). O menor coeficiente médio padronizado total foi encontrado em Brasília (0,8/100.000 habitantes) (Tabela 1).
Tabela 1 – Coeficientes brutos de mortalidade por tuberculose respiratória e não respiratória e coeficientes médios padronizados de mortalidade por tuberculose respiratória em adultos de 20 a 59 anos em dez capitais brasileiras, no período de 1996-2018. Governador Valadares, Minas Gerais, Brasil – 2020.
1Coeficiente Bruto de Mortalidade por Tuberculose Respiratória; 2Tuberculose Não-Respiratória; 3Coeficiente Médio de Mortalidade Padronizado por Tuberculose Respiratória.
Fonte: Elaboração própria
A razão por sexo entre os coeficientes médios de mortalidade padronizados (masculino/feminino) foi maior em Porto Alegre (5,4), São Paulo (4,4) e Recife (4,3). Destacase que Manaus, capital com a menor razão (2,0), apresentou quociente 62% menor do que o encontrado em Porto Alegre.
As séries temporais estão apresentadas na Figura 1.
A mortalidade por tuberculose apresentou tendência decrescente e significativa, para a população total e para os dois sexos, na maioria das capitais, com exceção de Fortaleza, cuja tendência foi estacionária para a população total e o sexo masculino. Entre as capitais com tendência decrescente, Curitiba apresentou a maior redução percentual anual, para a população total (-7,0%) e para o sexo masculino (-7,7%), seguida por Salvador e São Paulo. Para o sexo feminino, as maiores reduções foram observadas em Belo Horizonte (-8,1%), Salvador (-7,5%) e Brasília e Recife (-6,0% em ambos). A redução percentual anual foi maior no sexo masculino, exceto para Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo. Dentre as capitais com tendência decrescente significativa, Porto Alegre foi a capital com menor APC total (-2,3%) (Tabela 2).
Tabela 2 – Variação percentual anual (APC) da mortalidade por tuberculose em dez capitais brasileiras, analisando a população total masculina e feminina, 1996-2018. Governador Valadares, Minas Gerais, Brasil – 2020.
Tabela 2 – Variação percentual anual (APC) da mortalidade por tuberculose em dez capitais brasileiras, analisando a população total masculina e feminina, 1996-2018. Governador Valadares, Minas Gerais, Brasil – 2020. (conclusão)
A cidade de Recife apresentou o maior coeficiente médio de mortalidade por tuberculose no período analisado. A razão entre os sexos masculino e feminino apresentou diferença de até 62%, comparando Porto Alegre com Manaus. Todas as capitais, com exceção de Fortaleza, apresentaram tendência decrescente de mortalidade para as três categorias analisadas. As maiores reduções percentuais anuais de mortalidade ocorreram em Curitiba, para total e sexo masculino, e em Belo Horizonte, para o sexo feminino.
O coeficiente médio elevado de mortalidade por tuberculose encontrado no estudo corrobora as informações de que Recife concentra quase metade do total de casos notificados no estado de Pernambuco e figura como a capital com a segunda maior taxa de mortalidade do país7. Em estudo realizado em três capitais do Nordeste, Recife apresentou percentual de 62,9% de acesso dificultado aos serviços de saúde por portadores de tuberculose11, fator associado ao abandono do tratamento12 que pode contribuir para o aumento das taxas de recidiva e da mortalidade7.
Uma média de 75% dos casos e mortes por tuberculose ocorre entre homens na maioria dos países1, dado em acordo com a diferença encontrada no presente estudo. Além disso, a tendência de redução da mortalidade foi menor no sexo masculino na maioria das capitais, semelhante ao encontrado em estudo realizado nos Estados Unidos da América13
Os resultados podem ser o reflexo do diagnóstico tardio4, do menor uso regular de serviços de saúde13, especialmente entre adolescentes e adultos jovens14, e do maior abandono do tratamento pelos homens14-16.
As tendências decrescentes encontradas para as oito capitais também foram encontradas em investigações que analisaram a mortalidade por tuberculose em 11 países europeus, de 1980 a 201117, em seis regiões do mundo, de 1990 a 201018 e na Espanha19
Os autores relataram que a detecção precoce de casos, acesso aos serviços de saúde, redução da pobreza e melhora das condições de vida são fatores que contribuem para a redução da mortalidade por tuberculose. Kazemnejad et al18 destacam que as tendências de incidência e mortalidade caíram especialmente nas Américas, porém, estão distantes das metas preconizadas pela Organização Mundial da Saúde para 2050.
No Brasil, podem ter contribuído para a redução da mortalidade por tuberculose o maior protagonismo da atenção básica somado a iniciativas como a implantação do Tratamento Diretamente Observado (TDO), definido como prioridade para controle da tuberculose em países responsáveis por 80% dos casos notificados no mundo20. Deve-se considerar, ainda, o papel da introdução da terapia antirretroviral (TARV) no sistema de saúde brasileiro, o que aumentou o acesso de pacientes com soropositividade para HIV ao tratamento de otimização imunológica, evitando o adoecimento e a mortalidade pela tuberculose21. Assim, torna-se relevante intensificar a busca ativa por pacientes com soropositividade para HIV para incluí-los na TARV, a fim de reduzir a mortalidade pelas duas doenças quando houver a coinfecção21,22.
O município de Fortaleza apresentou tendência estacionária de mortalidade por tuberculose em adultos na população geral e homens. Façanha23, por meio da análise da mortalidade por tuberculose de 1980 a 2001 na capital cearense, encontrou tendência decrescente para este ciclo da vida, porém, entre 1996 e 2000, a tendência foi crescente para indivíduos de 20 a 29 anos e 50 a 59 anos, demonstrando a prioridade de ações direcionadas à população adulta.
Em 2010, a proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera foi de 33,5% e a taxa de abandono do tratamento nas unidades básicas de saúde de Fortaleza foi de 8,5%24. O abandono do tratamento da tuberculose em Manaus e Fortaleza esteve associado ao sexo masculino, uso de drogas ilícitas e menor classe socioeconômica15. Em Manaus, as taxas de
cura e de abandono não alcançaram os percentuais recomendados e os óbitos foram frequentes de 2003 a 2004, sugerindo a necessidade de investimento no diagnóstico precoce, na implantação do tratamento supervisionado e na intensificação da busca ativa de casos25. Com relação à tendência estacionária para homens adultos em Fortaleza, cabe considerar que as mulheres, geralmente, são mais adeptas e mais responsivas ao tratamento de tuberculose que os homens26
A cidade de Brasília apresentou o menor coeficiente médio de mortalidade por tuberculose e esteve entre as quatro capitais com menor redução percentual anual no período analisado. Entre 2004 e 2013, a proporção de cura dos casos novos pulmonares positivos no município atingiu a meta preconizada pela OMS em vários anos, e o percentual de abandono ao tratamento esteve abaixo de 5% entre 2006 e 201227. O Programa de Controle da Tuberculose no Distrito Federal encontra-se descentralizado em Unidades de Atenção Primária, Unidades Prisionais, hospitais, Centro de Referência, ambulatórios para pessoas em situação de rua e unidade de internação28.
Um estudo ecológico realizado em Curitiba29, de 2000 a 2009, demonstrou que o aumento de 76,28% de cobertura da Estratégia Saúde da Família (ESF) e a implantação do tratamento supervisionado para todas as unidades de saúde, além da capacitação continuada das equipes e o recebimento de verbas para ações de vigilância e controle, contribuíram para a redução da proporção do abandono do tratamento e da mortalidade por tuberculose29. Isso pode ter refletido em dados de maior redução percentual anual da capital apresentados nesse estudo.
A menor redução percentual anual demonstrada em Porto Alegre pode refletir as más condições de vida em bolsões de pobreza, a existência da coinfecção TB-HIV e a concentração do sistema prisional no município e arredores30. Em uma análise da distribuição geográfica de taxas de incidência e prevalência médias de tuberculose em bairros de Porto Alegre, de 2007 a 2011, na qual 83% dos casos tinham de 20 a 59 anos, foi demonstrado percentual de 89,3% de não realização do TDO30. Os autores atribuem esse resultado à desorganização do sistema de saúde e à baixa cobertura da ESF30
Cabe ressaltar as limitações do estudo, como as inerentes ao uso de dados secundários, que incluem a possibilidade de subnotificação sobretudo nas regiões Norte e Nordeste, pela menor cobertura do SIM31. Além disso, as oscilações na proporção de óbitos por causas mal definidas nos anos estudados interferem na interpretação dos resultados, pois conforme melhora a qualidade da informação, é reduzida a proporção de óbitos por causas mal definidas, aumentando os óbitos por causas específicas. Sendo assim, o aumento das taxas em alguns anos pode representar uma melhor especificação dos dados de mortalidade e, não necessariamente, um aumento nos óbitos por tuberculose.
Apesar de observadas as tendências decrescentes da mortalidade em adultos para a maioria das capitais, as taxas permanecem expressivas, apresentando tendências estacionárias para Fortaleza para a população total e masculina. Torna-se necessário ampliar os investimentos na descentralização do cuidado, com fortalecimento da atenção básica e da vigilância em saúde e aumento da cobertura do tratamento diretamente observado.
1. Concepção do projeto, análise e interpretação dos dados: Kleber Proietti Andrade, Larissa Dimas Barbosa, Larissa Ellen Ciribeli e Lélia Cápua Nunes.
2. Redação do artigo e revisão crítica relevante do conteúdo intelectual: Kleber Proietti Andrade, Larissa Dimas Barbosa, Larissa Ellen Ciribeli e Lélia Cápua Nunes.
3. Revisão e/ou aprovação final da versão a ser publicada: Kleber Proietti Andrade, Larissa Dimas Barbosa, Larissa Ellen Ciribeli e Lélia Cápua Nunes.
4. Ser responsável por todos os aspectos do trabalho na garantia da exatidão e integridade de qualquer parte da obra: Kleber Proietti Andrade, Larissa Dimas Barbosa, Larissa Ellen Ciribeli e Lélia Cápua Nunes.
1. World Health Organization. Global tuberculosis report 2017. Geneva: World Health Organization; 2017.
2. World Health Organization. Global tuberculosis control 2014. Geneva: World Health Organization; 2014.
3. Hargreaves JR, Boccia D, Evans CA, Adato M, Petticrew M, Porter JDH. The Social Determinants of Tuberculosis: From Evidence to Action. Am J Public Health. 2011; 101(4):654-62.
4. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Coordenação Geral de Doenças Endêmicas. Programa Nacional de Controle de Tuberculose. Plano Estratégico para o Controle da Tuberculose. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2006.
5. Chaimowicz F. Age transition of tuberculosis incidence and mortality in Brazil. Rev Saúde Pública. 2001;35(1):81-7.
6. Brasil. Ministério da Saúde. Organização Pan-americana de Saúde. Rede Interagencial de Informações para a Saúde [internet]. Brasília (DF): 2015 [citado em 9 set 2015]. Disponível em: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/ idb1998/fqc17.htm.
7. Silva CCAV, Andrade MS, Cardoso MD. Fatores associados ao abandono do tratamento de tuberculose em indivíduos acompanhados em unidades de saúde de referência na cidade do Recife, Estado de Pernambuco, Brasil, entre 2005 e 2010. Epidemiol Serv Saúde. 2013; 22(1):77-85.
8. Brasil. Ministério da Saúde. Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus). Estatísticas Vitais – Mortalidade e Nascidos Vivos [internet]. Brasília (DF): 2015 [citado em 3 set 2015]. Disponível em: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sim/cnv/obt10uf.def.
9. Brasil. Ministério da Saúde. Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus). Estatísticas Vitais – Mortalidade e Nascidos Vivos [internet]. Brasília (DF): 2020 [citado em 13 nov 2020]. Disponível em: https://datasus.saude.gov.br/mortalidade-desde-1996-pela-cid-10.
10. Brasil. Ministério da Saúde. Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus). Demográficas e socioeconômicas [internet]. Brasília (DF): 2020 [citado em 13 nov 2020]. Disponível em: https://datasus.saude.gov.br/ populacao-residente.
11. Souza MSPL, Aquino R, Pereira SM, Costa MCN, Barreto ML, Natividade M, et al. Fatores associados ao acesso geográfico aos serviços de saúde por pessoas com tuberculose em três capitais do Nordeste brasileiro. Cad Saúde Publica. 2015;31(1):111-20.
12. Brasil PEAA, Braga JU. Meta-analysis of factors related to health services that predict treatment default by tuberculosis patients. Cad Saúde Publica. 2008;24(4):485-502.
13. Jung RS, Bennion JR, Sorvillo F, Bellomy A. Trends in Tuberculosis Mortality in the United States, 1990–2006: A Population-Based Case-Control Study. Public Health Rep. 2010;125(3):389-97.
14. Tachfouti N, Slama K, Berraho M, Elfakir S, Benjelloun MC, El Rhazi K, et al. Determinants of Tuberculosis treatment default in Morocco: Results from a National Cohort Study. Pan Afr Med J. 2013;14:121.
15. Braga JU, Pinheiro JDS, Matsuda JDS, Barreto JAP, Feijão AMM. Fatores associados ao abandono do tratamento da tuberculose nos serviços de atenção básica em dois municípios brasileiros, Manaus e Fortaleza, 2006 a 2008. Cad Saúde Colet. 2012;20(2):225-33.
16. Ferreira SMB, Silva AMC, Botelho C. Abandono do tratamento da tuberculose pulmonar em Cuiabá - MT - Brasil. J Bras Pneumol. 2005;31(5):427-35.
17. Nagavci BL, de Gelder R, Martikainen P, Deboosere P, Bopp M, Rychtarıkova J, et al. Inequalities in tuberculosis mortality: long-term trends in 11 European countries. Int J Tuberc Lung Dis. 2016;20(5):574–81.
18. Kazemnejad A, Jang SA, Amani F, Omidi A. Global Epidemic Trend of Tuberculosis during 1990-2010: Using Segmented Regression Model. J Res Health Sci. 2014;14(2):115-21.
19. Llorca J, Dierssen-Sotos T, Arbaizar B, Gómez-Acebo I. Mortality From Tuberculosis in Spain, 1971 to 2007: Slow Decrease in Female and in Elderly Patients. Ann Epidemiol. 2012;22(7):474-9.
20. Ruffino-Netto A, Villa TCS. Tuberculose. Implantação do DOTS em algumas regiões do Brasil: Histórico e peculiaridades regionais. Ribeirão Preto (SP): Instituto Milênio Rede TB; 2006.
21. Jamal LF, Moherdaui F. Tuberculose e infecção pelo HIV no Brasil: magnitude do problema e estratégias para o controle. Rev Saude Publica. 2007;41(1):104-10.
22. Ceccon RF, Maffacciolli R, Burille A, Meneghel SN, Oliveira DLLC, Gerhardt TE. Mortalidade por tuberculose nas capitais brasileiras, 2008-2010. Epidemiol Serv Saúde. 2017;26(2):349-58.
23. Façanha MC. Evolução da mortalidade por tuberculose em Fortaleza, entre 1980 e 2001. J Bras Pneumol. 2006;32(6):553-8.
24. Fortaleza (CE). Prefeitura Municipal de Fortaleza. Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza. Relatório de Gestão 2010: saúde, qualidade de vida e a ética do cuidado. Fortaleza (CE): Secretaria Municipal de Saúde, 2015.
25. Marreiro LS, da Cruz MA, Oliveira MNF, Garrido MS. Tuberculose em Manaus, Estado do Amazonas: resultado de tratamento após a descentralização. Epidemiol Serv Saúde 2009;18(3):237-242.
26. Sá LD, Souza KMJ, Nunes MG, Palha PF, Nogueira JA, Villa TCS. Tratamento da tuberculose em unidades de saúde da família: histórias de abandono. Texto Contexto Enferm. 2007;16(4):712-8.
27. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Boletim Epidemiológico. O controle da tuberculose no Brasil: avanços, inovações e desafios [internet]. Brasília (DF): 2014 [citado em 12 nov 2020]. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/ bvs/periodicos/boletim_epidemiologico_numero_2_2014.pdf.
28 Tillmann IMO. Casos de Tuberculose no DF no período de 2004-2013: para análise de situação se está no caminho da pré-eliminação. 2015. Trabalho de conclusão de curso [Curso de Gestão em Saúde Coletiva]. Faculdade de Ciências da Saúde, Departamento de Saúde Coletiva, Universidade de Brasília. Brasília (DF): 2015
29. Marquieviz J, Alves IS, Neves EB, Ulbricht L. A Estratégia de Saúde da Família no controle da tuberculose em Curitiba (PR). Cienc Saude Colet. 2013;18(1):265-71.
30. Peruhype RC, Acosta LMW, Ruffino-Netto A, Oliveira MMC, Palha PF. Distribuição da tuberculose em Porto Alegre: análise da magnitude e coinfecção tuberculose-HIV. Rev Esc Enferm USP 2014;48(6):1035-43.
31. Brasil. Ministério da Saúde. Informe da Atenção Básica. Integração de Informações do SIAB, SIM e SINASC nos Sistemas Locais de Saúde [internet]. 2004 [citado em 03 set 2015]. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/ bvs/periodicos/Informe20.pdf
Recebido: 10.2.2019. Aprovado: 24.5.2022.
André Luiz Sá de Oliveiraa
http://orcid.org/0000-0002-2483-550X
Louisiana Regadas de Macedo Quininob
https://orcid.org/0000-0002-7123-8089
Carlos Feitosa Lunac
http://orcid.org/0000-0001-9277-4086
Analisar o perfil epidemiológico da mortalidade por homicídios intencionais, no município de João Pessoa (PB). Estudo retrospectivo, exploratório e quantitativo. Utilizaram-se dados dos homicídios dolosos, das vítimas residentes no município entre 2011-2016, através do cruzamento do banco de dados do Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) e Secretaria de Estado da Segurança e Defesa Social da Paraíba (SESDS-PB). Foram analisadas as variáveis: ano de ocorrência, sexo, estado civil, faixa etária, raça/cor, escolaridade, antecedentes criminais, tipo de arma utilizada pelo agressor, local da ocorrência, modus operandi, turno/horário e dia da semana. Do total de ocorrências (n º = 2628), o perfil predominante das vítimas de homicídios intencionais foi de pessoas do sexo masculino (92,3%), solteiros (76,1%), de cor parda (93,7%), entre 15 e 29 anos (64,2%), com baixa escolaridade (80,0%), vitimadas por arma de fogo (90,0%), com histórico de envolvimento em atividades criminosas (65,0%), ocorridos em via pública (83,5%), no turno da noite e madrugada (61,5%) e nos finais de semana (49,7%). Tendo os homicídios como um
a Doutor em Saúde Pública. Tecnologista em Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, Instituto Aggeu Magalhães – Fiocruz Pernambuco – Núcleo de Estatística e Geoprocessamento (NEG). Recife, Pernambuco, Brasil. E-mail: andre.sa@cpqam.fiocruz.br
b Doutora em Saúde Pública. Pesquisadora em Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, Instituto Aggeu Magalhães – Fiocruz Pernambuco. Recife, Pernambuco, Brasil. E-mail: louisiana_quinino@hotmail.com
c Doutor em Saúde Pública. Tecnologista em Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, Instituto Aggeu Magalhães –Fiocruz Pernambuco – Núcleo de Estatística e Geoprocessamento (NEG). Recife, Pernambuco, Brasil. E-mail: cf.luna76@gmail.com
Endereço para correspondência: Avenida Professor Moraes Rego, S/N, Cidade Universitária. Recife, Pernambuco, Brasil. CEP: 50.740-465. E-mail: andre.sa@cpqam.fiocruz.br
grave problema para a saúde pública, faz-se necessário o monitoramento contínuo desses eventos para o estabelecimento de ações adequadas para sua redução. Palavras-chave: Violência. Homicídio. Mortalidade. Causas externas.
EPIDEMIOLOGICAL PROFILE OF INTENTIONAL HOMICIDE MORTALITY IN JOÃO PESSOA, PARAÍBA (2011-2016)
Abstract
This study analyzes the epidemiological profile of intentional homicide mortality in the municipality of João Pessoa, Paraíba, Brazil. A retrospective, exploratory, and quantitative research was conducted with data from the intentional homicides committed in the municipality between 2011-2016, obtained by crossing the Mortality Information System (SIM) and the Department of Security and Social Defense of Paraíba (SESDS-PB) databases. Year of occurrence, gender, marital status, age, race/color, schooling level, criminal history, type of weapon used, place of occurrence, modus operandi, time of day and day of the week were the variables analyzed. Of the total occurrences (n = 2628), the predominant profile of intentional homicide victims were men (92.3%), single (76.1%), brown (93.7%), between 15 and 29 years old (64.2%), with low schooling level (80.0%), victimized by firearm (90.0%), with a history of criminal activities (65.0%), occurred on public roads (83.5%), at night and dawn (61.5%), and on weekends (49.7%). As homicide constitute a serious public health issue, it must be continuously monitored to establish appropriate reduction actions.
Keywords: Violence. Murder. Mortality. External causes.
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE MORTALIDAD POR HOMICIDIOS INTENCIONALES EN EL MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, PARAÍBA, EN 2011-2016
Este estudio tiene como objetivo analizar el perfil epidemiológico de la mortalidad por homicidios intencionales en el municipio de João Pessoa, Paraíba (Brasil). Este es un estudio retrospectivo, exploratorio y cuantitativo. Se utilizaron datos de los homicidios dolosos, de las víctimas residentes en el municipio entre 2011-2016 a través del cruce con el banco de datos del Sistema de Información de Mortalidad (SIM) y la Secretaría de Estado de Seguridad y Defensa Social de Paraíba (SESDS-PB). Se analizaron las variables: año de ocurrencia, sexo, estado civil,
grupo de edad, raza/color, nivel de estudios, antecedentes penales, tipo de arma utilizada por el agresor, lugar de la ocurrencia, modus operandi, turno/horario y día de la semana. Del total de ocurrencias (n = 2628), el perfil predominante de las víctimas de homicidios intencionales fue de personas del sexo masculino (92,3%), solteros (76,1%), de color parda (93,7%), entre 15 y 29 años (64,2%), con bajo nivel de estudios (80,0%), victimizadas por arma de fuego (90,0%), con histórico de involucramiento en actividades criminales (65,0%), ocurridos en vía pública (83,5%), en el turno de la noche y madrugada (61,5%) y los fines de semana (49,7%). Teniendo en cuenta que los homicidios son un grave problema para la salud pública, es necesario el monitoreo continuo de estos eventos para el establecimiento de acciones adecuadas para su reducción.
Palabras clave: Violencia. Homicidio. Mortalidad. Causas externas.
O crescimento dos coeficientes de mortalidade por homicídios no Brasil expõe a população a riscos constantes à saúde. A partir disso, torna-se uma questão de elevada prioridade no campo da saúde pública, prejudicando a vítima, sua família e a sociedade como um todo e trazendo impactos negativos para o desenvolvimento social e econômico1,2
Os constantes desafios atribuídos à saúde pública, dentre eles a identificação das mortes por causas externas, têm se tornado um problema para a população de todo o mundo, mobilizando o setor a buscar meios para diminuir sua morbimortalidade. Dessa maneira, é fundamental levantar informações para unir, de maneira sistemática, dados sobre características e consequências em nível local, nacional e mundial2,3
O entendimento desse fenômeno implica em uma análise abrangente dos determinantes socioambientais e políticos, possuindo forte relação com as desigualdades sociais. Sua compreensão ultrapassa as relações sociais e de poder, bem como as questões comportamentais, culturais, étnicas, raciais, de gênero e idade4
No Brasil, o crescimento das mortes por homicídios se deu desde o final dos anos 70, ocorrendo um aumento exacerbado a partir da década de 90, fato esse que pode estar relacionado à vulnerabilidade e a exposição ao risco de ocorrência de morte por homicídio.
Atualmente, o nordeste brasileiro é a região com maior prevalência, apresentando uma taxa de 32,8 homicídios por 100 mil habitantes5,6
A cidade de João Pessoa (PB), capital da Paraíba, se insere nesse contexto como uma das capitais mais violentas do país. No ano 2000, a cidade ocupava posições intermediárias, hoje situando-se entre as cidades com altas taxas de violência7.
Considerando esses aspectos e as especificidades locais, surge a necessidade de entender a magnitude dos homicídios na cidade de João Pessoa, dado que se trata de um município com uma população, estimada no ano de 2018, de 800.323 habitantes e com uma densidade demográfica de 66,7 habitantes/Km², representando 20,1% da população da Paraíba8. Apesar de ser uma cidade com vários atrativos turísticos, ela apresenta grandes desigualdades sociais, que destoam com o desenvolvimento esperado pelo município.
De acordo com as condições apresentadas, o discernimento da realidade é uma premissa fundamental para que se possa motivar e unir esforços do poder público e da sociedade civil para o seu acareamento. Juntamente, visa-se contribuir com a sistematização e disseminação da informação, de modo a auxiliar as ações de atenção e promoção e proteção às vítimas em uma abordagem articulada com a vigilância, e no aperfeiçoamento de políticas públicas.
Assim, a presente pesquisa teve o objetivo de descrever o perfil epidemiológico das vítimas de homicídios intencionais na cidade de João Pessoa.
Estudo descritivo transversal sobre as ocorrências de homicídios intencionais em João Pessoa (PB), no período de 2011 a 2016. Foram incluídos na pesquisa os indivíduos que residiam no município e que foram vítimas de homicídios intencionais no período.
As informações dos óbitos por homicídio, ocorridos em João Pessoa, foram coletadas do Sistema de Informações de Mortalidade (SIM), contidos no intervalo X85-Y09 e Y35-Y36 do capítulo XX da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde - Décima Revisão (CID - 10); essas informações foram cruzadas com o banco de dados da Secretaria de Estado da Segurança e Defesa Social da Paraíba (SESDS-PB), com o intuito de identificar a intencionalidade dos homicídios.
Em seguida, foram consideradas as seguintes categorias para análise: ano de ocorrência, sexo, estado civil, faixa etária, raça/cor, escolaridade, antecedentes criminais, tipo de arma utilizada pelo agressor, local da ocorrência, modus operandi, turno/horário e dia da semana.
Esses procedimentos foram realizados no software RecLink, Excel e R. Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Fiocruz/Instituto Aggeu Magalhães, sob Certificado de Apresentação para Apreciação Ética nº 66226517.1.0000.5190, parecer 2.069.104, de 17/5/2017.
No período de 2011 a 2016, foram registrados 2.931 homicídios no SIM. Após o cruzamento com o banco da SESDS-PB, para extração dos homicídios intencionais (dolosos) das vítimas residentes no município, o banco de dados resultou em uma amostra final de 2.628 casos.
Em um primeiro cenário, detectou-se tendência descendente dos homicídios a cada ano. No início da série, foram registradas 534 mortes intencionais, o que implica dizer que o município atingiu o patamar de 72,8 mortes por 100 mil habitantes. No fim do período, foram observados 316 homicídios, com uma taxa de 39,4 a cada 100 mil habitantes (Figura 1). Isso acarreta uma redução acumulada de 40,8% no número de homicídios nesse intervalo.
própria
No período analisado, a natureza das mortes por agressões intencionais dividiu-se em três grupos: o primeiro, quando a vítima já se encontrava em óbito no local da ocorrência, representa 90,7% dos casos; o segundo, quando a vítima sofria a agressão e era socorrida com vida ao hospital, sendo consumada a morte no devido estabelecimento de saúde, em algumas horas ou dias subsequentes ao fato, representa 6,7% do total dos eventos; e por último, denotando 2,6% dos casos, caracterizou-se em “encontro de cadáver”, quando o corpo da vítima era encontrado em estado de decomposição, em um determinado local e apresentava sinais de violência.
Em relação ao sexo das vítimas, 92,3% dos homicídios ocorreram em pessoas do sexo masculino e 7,7% do sexo feminino. Dessas vítimas, 76,1% eram solteiras, 14,1% com união estável e 8,1% casados em relação ao estado civil.
A faixa etária mais frequente foi entre 20 e 29 anos de idade (42,1%), seguida pela faixa de 15 a 19 anos (22,1%) e de 30 a 39 anos (19,7%). Vale ressaltar que os assassinatos de adolescentes, jovens e adultos jovens, no período, acarretou uma frequência acumulada de 64,2%, e a raça/cor de maior prevalência foi a parda (93,7%).
O baixo nível de escolaridade das vítimas foi detectado em 43,1% das ocorrências, englobando pessoas que possuíam de um a três anos de estudo, seguido de 36,7% de vítimas que possuíam de quatro a sete anos de estudo. Ou seja, aproximadamente 80% das pessoas assassinadas não chegaram a possuir nível fundamental completo.
Cerca de 65% das vítimas tinham envolvimento com atividades criminosas. Dessas, 41,0% eram presidiários ou ex-presidiários e 23,8% eram usuários/traficante de drogas.
Analisando as variáveis circunstanciais do evento, observou-se a predominância da utilização da arma de fogo (90,0%) pelos agressores, seguido da arma branca (9,1%) e demais meios (0,9%), tais como asfixia, atropelamento intencional e espancamento. Dos homicídios provocados por armas de fogo, detectou-se que, em 81,4% das vítimas, em seu corpo haviam cerca de uma a seis perfurações de projétil, tendo os eventos consumados, em sua maior parte, na via pública (83,5%) e na residência da vítima (9,4%). Os agressores praticaram os eventos em dupla (61,7%) ou sozinhos (21,8%), fazendo uso da motocicleta (61,0%), a pé (19,1%) ou do automóvel (18,2%) para a prática desses crimes. Esses meios de locomoção serviram também como recurso de fuga e facilitação da evasão do local da ocorrência.
Os eventos eram acometidos, em sua maior parte, no turno da noite (40,6%), entre o horário das 18h e 0h, e o período da tarde (23,7%), entre 12h e 18h. Os turnos da madrugada (0h às 6h) e manhã (6h às 12h) tiveram uma prevalência de 20,9% e 14,8%, respectivamente. Aproximadamente metade dos homicídios ocorreram nos finais de semana, sendo domingo o de maior incidência (19,0%), seguido de sábado (17,4%) e sexta-feira (13,3%).
O perfil predominante das vítimas de homicídios intencionais foi de pessoas do sexo masculino, de cor parda, entre 15 e 29 anos, com baixa escolaridade, vitimadas por arma de fogo, ocorridos em via pública, no turno da noite e nos finais de semana.
Detectou-se também redução nos homicídios a cada ano. Um dos fatores que contribuíram para essa redução dos homicídios, na capital paraibana, foi a implantação,
no ano de 2011, do programa de redução de homicídios denominado Paraíba Unida pela Paz (PPUP). Esse plano trata de uma política de estado, concebida pelo Governo, com a participação da sociedade civil, objetivando articular, debater e construir um novo modelo de gestão focada em resultados ao aprimoramento da segurança pública de forma contínua e sustentável. Dessa maneira, desembocando na promoção da participação social na formulação de políticas públicas. O PPUP vem trazendo, até os dias atuais, resultados positivos referente a redução no número de vítimas. Entre os anos de 2000 e 2011, houve um aumento no número de homicídios, indicando sempre para uma tendência de crescimento desse quantitativo com o passar dos anos. Com a implantação do PPUP, em 2011, constatou-se que, mesmo com um número de homicídios ainda bastante elevado, houve uma desaceleração nesse tipo de natureza e uma quebra na tendência, onde já se projeta uma queda significativa no número de homicídios com o passar dos anos.
Estudos afirmam que o indivíduo inicia suas práticas criminosas no final da infância e começo da adolescência, por volta dos 12 ou 13 anos de idade, atingindo o ápice aos 20 anos e finalizando antes dos 309-13. Os jovens buscam a dar mais valor às compensações imediatas do que o investimento a médio ou longo prazo. Essas particularidades, associados à ausência de expectativas, originadas pelas diferenças sociais, podem ser as principais causas dos comportamentos violentos, que geram os homicídios14,15. Tais comportamentos podem ser influenciados por uma série de efeitos motivacionais, como o desemprego, ou por efeitos de oportunidade, como a renda dos indivíduos; podendo estar associados com o uso de uma arma de fogo ou branca16
Conflitos presentes nas relações familiares podem viabilizar a inserção do jovem no mundo das drogas, estimulando seu ingresso para práticas criminosas, como o tráfico de entorpecentes. Esse tipo de atividade econômica traz ao jovem uma sensação de poder, além do ganho rápido de dinheiro. Essa prática os leva a laços de pertencimento e fidelidade às facções criminosas, as quais submetem os jovens a cometerem vários delitos, como assaltos, roubos de veículos e cargas, o próprio tráfico e uso e dependência das drogas, com a finalidade de gerar lucros e manter a estrutura do crime organizado, controlado pelos traficantes. Isso acarreta uma grande perda para economia do município, pois está se perdendo uma geração de jovens, em plena fase produtiva, que poderiam ser economicamente ativos17,18. Esse é um elemento relevante, não apenas para a composição demográfica da população; compromete também as gerações futuras, considerando o potencial negativo dessas perdas sobre a força de trabalho19,20
Estudos sobre o comportamento epidemiológico dos homicídios, em mulheres, mostraram que essas mortes ocorrem na fase adulta, em sua própria residência, em sua maioria
perpetrada por homens e tendo o seu cônjuge como principal agressor. Isso caracteriza o feminicídio, além da violência de gênero, violência doméstica e violência sexual21-23. Um estudo observou que a maioria das mulheres foram assassinadas por homens conhecidos, com os quais tinham relações de afeto e intimidade. Além disso, a autora reforçou que a alta frequência dessas mortes está acompanhada de elevados níveis de tolerância social à violência, agressões e ameaças cometidas por parceiro íntimo, atual ou passado. A pesquisa relatou ainda que 84% das mulheres assassinadas tinham histórico de violência22.
Outra relação encontrada nas mortes das mulheres foi o fato delas estarem vinculadas ao tráfico, por disputarem espaços tipicamente ocupados pelos homens, por denunciarem os traficantes ou por serem os alvos mais fáceis para vinganças contra companheiros, filhos ou outros familiares22
Em territórios de extrema desigualdade social, conflito armado, grilagem de terras, regiões de fronteira, favelas e em circunstâncias onde vigora a lei de um segundo estado, os homicídios contra as mulheres passaram a ser praticados como uma forma de punição exemplar, de demonstração de poder ou uma mensagem às mulheres para que se comportem, e aos outros homens para mostrar quem está no comando21
De acordo com o perfil epidemiológico, ficou evidente que as vítimas de homicídio, em João Pessoa, estão associadas ao gênero. Essa característica não é peculiar dessa cidade. Historicamente, existe uma maior prevalência das vítimas do sexo masculino em todo território nacional. Estudos realizados no Brasil constataram esse perfil, onde é público e notório que as diferenças de gênero – em uma sociedade patriarcal e machista, como a do Brasil – corroboram para o agravamento da violência. A partir disso, atinge-se, principalmente, os homens, como agressores ou como vítimas, associado ao consumo de álcool, o acesso a armas de fogo e a tendência masculina a participar de quadrilhas e atividades do crime organizado19,24,25.
Desigualdades raciais parecem estar associadas à mortalidade violenta intencional. Estudos apontaram que as mortes das vítimas de raça/cor negra, são diretamente relacionadas com a desigualdade social, o preconceito, segregação, exclusão e discriminação. Tais fatores levam a um alto grau de vulnerabilidade, colocando esse grupo étnico em uma situação de inferioridade e menosprezo por parte de sociedade. Como as condições de desvantagem social, vividas pela população negra, podem se relacionar ao racismo e à discriminação, elas podem se somar como desvantagens na mortalidade por homicídios26
A expectativa de vida é menor entre pessoas negras, e elas são a grande maioria entre os mais pobres; ocupam as posições mais precárias do mercado de trabalho e possuem os menores índices de educação formal, podendo ser explicada por questões
sociais relacionadas. Os indivíduos que residem em bairros com baixos indicadores socioeconômicos, nas áreas mais afetadas pela violência, geralmente são negros. O quesito raça/cor possui um peso significativo no perfil das vítimas de homicídios. A presença das desigualdades e desvantagens sociais mostra a eficiência parcial das políticas públicas para o controle da violência, quando não são adequadas às especificidades que constituem a diversidade e pluralidade dos habitantes de um município27.
Faz parte do senso comum que a arma de fogo é um dos principais instrumentos utilizados para a prática de crimes. Estudos confirmam a relação das armas de fogo com os crimes violentos intencionais, podendo ser um instrumento utilizado para resolução de conflitos interpessoais. O quantitativo real de armas de fogo no Brasil ainda é desconhecido16. Estima-se que existam, aproximadamente, 15,3 milhões de armas de fogo no país, das quais, 6,8 milhões possuem registro e 8,5 milhões não, estando 3,5 milhões no poder de criminosos. Portanto, a disseminação das armas de fogo nos territórios foram um elemento principal para o incremento dos homicídios28
Até os dias atuais, vem se discutindo e questionando o uso e controle de armas, principalmente após a implantação do Estatuto do Desarmamento no ano de 2003, para tentar desacelerar o crescimento exacerbado dos assassinatos. De maneira que esse processo tenha êxito, seria necessária uma série de reformas, como a do Código Penal, das instituições policiais, do sistema prisional, o enfrentamento da impunidade vigente e das transgressões institucionais de diversos organismos encarregados de fazer cumprir as leis7. O Estatuto do Desarmamento, de certa forma, impediu o crescimento no número de homicídios; se não fosse por essa legislação, que firmou um controle responsável das armas de fogo, os homicídios teriam aumentado 12% em relação aos números já registrados25.
A maior parte das vítimas assassinadas em via pública não chegaram a ser socorridas para um hospital, vindo a óbito no próprio local da ocorrência, antes mesmo de receber socorro médico. Isso deixa em evidência a letalidade das armas de fogo e sua possível relação com atividades ilícitas, especialmente com o narcotráfico19
Os turnos da noite e madrugada apresentaram maiores prevalências, podendo estar relacionadas ao tráfico e ao uso abusivo de álcool e de drogas psicoativas, particularmente dos derivados da cocaína, como o crack; associado a elevadas taxas de mortalidade entre seus usuários19,29
A ampliação da interação social entre as pessoas ocorre geralmente nos finais de semana. Como a maioria delas trabalham nos dias úteis (de segunda a sexta-feira), existe uma demanda desses indivíduos pela busca de ambientes que promovam momentos de lazer
e diversão, como bares, shows, eventos públicos com altas concentrações de pessoas, entre outros. Esses locais contribuem para uma maior exposição à violência, levando em consideração que neles se constata a presença de determinados fatores de risco, tais como o uso de bebidas alcoólicas, cigarros e drogas2,3
O estudo evidenciou que os homicídios intencionais assumiram características distintas em relação ao sexo. A predominância continua sendo os jovens do sexo masculino, com elevada utilização da arma de fogo, no período da noite e da madrugada, nos finais de semana e tendo como local de ocorrência a via pública.
O perfil epidemiológico, revelado nessa pesquisa, proporciona informações suficientes para caracterizar as vítimas e a magnitude da ocorrência desses assassinatos. Dessa forma, esse manuscrito pode contribuir com a disseminação, visibilidade e uso da informação para a ação, ofertando subsídios para o planejamento de políticas públicas voltadas para a área da saúde e da segurança pública. Ademais, enfatiza-se a importância da consolidação de ações intersetoriais, como foco na ampliação na rede de atenção e proteção dos grupos de maior vulnerabilidade.
Para a adoção de medidas multifocais e intersetoriais na redução das ocorrências e dos impactos na saúde, é necessário o envolvimento do setor público e privado, além da participação de grupos sociais, família e sociedade civil, de modo que a articulação de diversas áreas fortaleça as ações de prevenção, redução e controle. Tendo os homicídios como um grave problema para a saúde pública, faz-se necessário o monitoramento contínuo desses eventos para o estabelecimento de ações adequadas para sua redução.
1. Concepção do projeto ou análise e interpretação dos dados: André Luiz Sá de Oliveira e Carlos Feitosa Luna .
2. Redação do artigo ou revisão crítico relevante do conteúdo intelectual: André Luiz Sá de Oliveira, Carlos Feitosa Luna e Louisiana Regadas de Macedo Quinino
3. Revisão e/ou aprovação da versão final a ser publicada: André Luiz Sá de Oliveira, Carlos Feitosa Luna e Louisiana Regadas de Macedo Quinino.
4. Responsável por todos os aspectos do trabalho na garantia da exatidão e integridade de qualquer parte da obra: André Luiz Sá de Oliveira, Carlos Feitosa Luna e Louisiana Regadas de Macedo Quinino.
1. Trindade RFC, Costa FAMM, Silva PPAC, Caminiti GB, Santos CB. Mapa dos homicídios por arma de fogo: perfil das vítimas e das agressões. Rev Esc Enferm USP. 2015;49(5):748-55.
2. Souto RMCV, Barufaldi LA, Nico LS, Freitas MG. Perfil epidemiológico do atendimento por violência nos serviços públicos de urgência e emergência em capitais brasileiras, Viva 2014. Ciênc Saúde Colet. 2017;22(9):2811-23.
3. Silva CA, Fernandes MIM. Perfil epidemiológico da mortalidade por homicídios no município de Sarandi, Pr-2008. Rev Uningá. 2010;26(1):57-70.
4. Silva MMA, Paiva EA, Neto OLM. Mascarenhas MDM. Violências como um problema de saúde pública. In: Rouquayrol MZ, Silva MGC, organizadores. Epidemiologia e Saúde. Rio de Janeiro (RJ): Editora Médica e Científica; 2018.
5. Andrade LT, Diniz AMA. A reorganização espacial dos homicídios no Brasil e a tese de interiorização. Rev Bras Estud Popul. 2013;30(supl.):171-91.
6. Brasil. Ministério da Justiça. Anuário brasileiro de segurança pública. Brasília (DF): Ministério da Justiça; 2016.
7. Waiselfisz JJ. Mapa da Violência 2016: homicídios por armas de fogo no Brasil. Brasília (DF): FLACSO; 2016.
8. Brasil. Ministério da Saúde. Informações de Saúde [Internet]. Brasília; 2012 [citado 2019 fev 13]. Disponível em: http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/ index.php?area=02
9. Thornberry TP. Empirical support for interactional theory: a review of the literature. In: Hawkins JD, editores. Some current theories of crime and deviance. New York: Cambridge University Press; 1996.
10. Legge S. Youth and violence: phenomena and international data. New Dir Youth Dev. 2008;(119):17-24.
11. Hunnicutt G. Dross-National Homicide Victimization: Age and Gender Specific Risk Factors. University of North Carolina at Greensboro; 2004. Mimeo.
12. Flood-Page C, Campbell S, Harrington V, Miller J. Youth crime: findings from 1998/99 youth lifestyles survey. Home Office Research Study 209. Home Office Research, Development and Statistics Directorate Crime and Criminal Justice Unit. London: HMSO; 2000.
13. Graham J, Bowling B. Young people and crime. London: Home Office Research Study 145; 1996.
14. Andrade SM, Soares DA, Souza RKT, Matsuo T, Souza HD. Homicídios de homens de quinze a 29 anos e fatores relacionados no estado do Paraná, de 2002 a 2004. Ciênc Saúde Coletiva. 2011; 16(1):1281-88.
15. Sant’anna A, Aerts D, Lopes MJ. Homicídios entre adolescentes no Sul do Brasil: situações de vulnerabilidade segundo seus familiares. Cad Saúde Pública. 2005;21(1):120-29.
16. Rostirolla CC, Oliveira CA. Mais Armas de Fogo, Mais Homicídios? Uma Evidência empírica para a Região Metropolitana de Porto Alegre a partir de dados em painel. IN: Anais do Encontro de Economia da Região Sul; Porto Alegre, Brasil; 2017.
17. Cardona M, Garcia HI, Giraldo CA, López MV, Suárez CM, Corcho DC, Posada CH, Flórez MN. Homicídios em Medellín, Colômbia, entre 1990 y 2002: actores, móviles y circunstancias. Cad Saúde Pública. 2005;21(3):840-51.
18. Assis SG, Souza, ER. Criando Caim e Abel - Pensando a prevenção da infração juvenil. Ciênc Saúde Coletiva. 1999;4(1):131-44.
19. Orellana JDY, Cunha GM, Brito BCS, Horta BL. Fatores associados ao homicídio em Manaus, Amazonas, 2014. Epidemiol Serv Saúde. 2017;26(4):735-46.
20. Neves ACM, Garcia LP. Mortalidade de jovens brasileiros: perfil e tendências no período 2000-2012. Epidemiol Serv Saúde. 2015;24(4):595-606.
21. Meneghel SN, Rosa BAR, Ceccon RF, Hirakata VN, Danilevicz IM. Feminicídios: estudo em capitais e municípios brasileiros de grande porte populacional. Ciênc Saúde Coletiva. 2017;22(9):2963-70.
22. Margarites AF, Meneghel SN, Ceccon RF. Feminicídios na cidade de Porto Alegre: Quantos são? Quem são? Rev Bras Epidemiol. 2017;20(2):225-36.
23. Garcia LP, Freitas LRS, Silva GDM, Höfelmann DA. Estimativas corrigidas de feminicídios no Brasil, 2009 a 2011. Rev Panam Salud Publica. 2015;37(4/5):251-57.
24. Melo AC, Silva GDM, Garcia LP. Mortalidade de homens jovens por agressões no Brasil, 2010-2014: estudo ecológico. Cad Saúde Pública. 2017;33(11):1-15.
25. Cerqueira D, Lima RS, Bueno S, Neme C, Ferreira H, Coelho D, et al. Atlas da Violência. Rio de Janeiro (RJ): Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; 2018.
26. Araújo EM, Costa MCN, Hogan VK, Araújo TM, Dias AB, Oliveira LOA. A utilização da variável raça/cor em Saúde Pública: possibilidades e limites. Interface. 2009;13(31):383-94.
27. Filho AMS. Vitimização por homicídios segundo características de raça no Brasil. Rev Saúde Pública. 2011;45(4):745-55.
28. Dreyfus P, Nascimento MS. Posse de Armas de Fogo no Brasil: Mapeamento das armas e seus proprietários. In: Fernandes, R. C, organizador. Brasil: as armas e as vítimas. Niterói (RJ): 7 Letras; 2005.
29. Morris SD. Drug trafficking, corruption, and violence in Mexico: mapping the linkages. Trends Organ Crim. 2013;16(2):195-220.
Recebido: 14.2.2019. Aprovado: 24.5.2022.
Tamires Carneiro de Oliveira Mendesa
https://orcid.org/0000-0002-7254-4096
Kenio Costa Limab
https://orcid.org/0000-0002-5668-4398
Resumo
Este artigo ecológico propõe-se a analisar os diferenciais na escala de prioridades das causas de morte entre a população idosa do Nordeste do Brasil, no período de 2001 a 2015, conforme três grupos etários: 60 a 69 anos (sexagenários), 70 a 79 anos (septuagenários) e 80 anos ou mais (longevos). Foram utilizados os dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e as causas de óbito foram analisadas descritivamente pela mortalidade proporcional. Sendo assim, registraram-se 2.461.383 óbitos, sendo a maior parte entre longevos (44,2%), no ambiente hospitalar (55,5%), entre homens (50,8%), de cor parda (49,0%), casados (37,1%) e sem nenhum ano de estudo (34,5%). As doenças cardiovasculares representaram a maior taxa de óbitos com mais de 30% em todos os grupos. Entre os sexagenários e septuagenários, a ordem de prioridades segue com as neoplasias, causas mal definidas, doenças endócrinas, metabólicas e nutricionais e doenças do aparelho respiratório. Já entre os longevos, a escala é seguida pelas causas mal definidas, doenças do aparelho respiratório, neoplasias e doenças endócrinas, metabólicas e nutricionais. Portanto, infere-se que os idosos longevos demandam uma atenção diferenciada dos outros idosos, sobretudo quanto à prevenção e ao tratamento das doenças respiratórias, bem como uma melhor determinação da causa básica nas declarações de óbito.
Palavras-chave: Idoso. Mortalidade. Causas de morte. Sistemas de informação.
a Odontóloga. Mestre e. Doutora em Saúde Coletiva Professora Adjunta da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. E-mail: tamires.carneiro@ufrn.br
b Odontólogo. Mestre em Odontologia Social. Doutor em Ciências (Microbiologia Médica). Professor Titular na Universidade Federal do Rio Grande do Norte nos Programas de Pós-graduação em Saúde Coletiva e em Ciências da Saúde. Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. E-mail: limke@uol.com.br
Endereço para correspondência: Departamento de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Av. Sen. Salgado Filho, 1787, Lagoa Nova, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. CEP: 59056-000. E-mail: tamires.carneiro@ufrn.br
Abstract
This ecological study analyzes the differences in the scale of priorities of causes of death among older adults in Northeastern Brazil, from 2001 and 2015, according to three age groups: 60 to 69 years (sexagenarian), 70 to 79 years (septuagenarian), and 80 years or older (old-old). Data were collected from the Brazilian Mortality Information System (SIM) and analyzed descriptively by proportional mortality. A total of 2,461,383 deaths were recorded, most were oldold adults (44.2%), who died in the hospital environment (55.5%), men (50.8%), brown (49.0%), married (37.1%) and illiterate (34.5%). Cardiovascular diseases accounted for the highest rate of death, with more than 30% in all groups. Among the sexagenarian and septuagenarian, the order of priorities follows with neoplasms, ill-defined causes, endocrine, metabolic and nutritional diseases, and respiratory diseases. Among the old-old, the scale is followed by ill-defined causes, respiratory diseases, neoplasms and endocrine, metabolic and nutritional diseases. This suggests that the old-old adults require specific attention from the other older population, especially regarding the prevention and treatment of respiratory diseases, as well as better determination of the underlying cause in death certificates.
Keywords: Aged. Mortality. Cause of death. Health information systems.
HETEROGENEIDAD EN LAS CAUSAS DE MUERTE DE ANCIANOS EN EL NORDESTE DE BRASIL
Este estudio ecológico se propone analizar los diferenciales en la orden de prioridades de las causas de muerte en la población anciana del Nordeste de Brasil, en el período de 2001 a 2015, según tres grupos de edad: 60 a 69 años (sexagenarios), 70 a 79 años (septuagenarios) y 80 años o más de edad (longevos). A partir de datos del Sistema de Información sobre Mortalidad (SIM), las causas de muerte fueron analizadas descriptivamente por la mortalidad proporcional. Así se registraron 2.461.383 muertes, la mayoría en personas de 80 años o más (44,2%), en ambiente hospitalario (55,5%), entre hombres (50,8%), pardos (49,0%), casados (37,1%) y sin ningún año de estudio (34,5%). Las enfermedades cardiovasculares representan la mayor tasa de muertes, con más de 30% en todos los grupos. Entre los sexagenarios y septuagenarios, el orden de
prioridades sigue con las neoplasias, causas mal definidas, enfermedades endocrinas, metabólicas y nutricionales, y enfermedades del aparato respiratorio. Ya en los longevos, la escala es seguida de las causas mal definidas, enfermedades del aparato respiratorio, neoplasias y enfermedades endocrinas, metabólicas y nutricionales. Por tanto, se observa que los ancianos longevos demandan una atención diferenciada que los otros ancianos, especialmente en cuanto a la prevención y tratamiento de las enfermedades respiratorias, así como una mejor determinación de la causa básica en las declaraciones de defunción
Palabras clave: Anciano. Mortalidad. Causas de muerte. Sistemas de información.
A mortalidade é um dos principais instrumentos para a mensuração das condições de vida, possibilitando identificar os problemas de saúde pública, definir a escala de prioridades de atenção e avaliar os recursos disponíveis. Nesse contexto, a mortalidade é um indicador de saúde de grande relevância no planejamento e administração de ações, programas e estratégias em saúde, contribuindo para o alcance de resultados promissores, bem como salvar vidas no futuro1
Entre as estatísticas de mortes, diversas abordam a população idosa, a qual, no ano de 2004, concentrou 51% dos óbitos no mundo e 59% no Brasil2,3. Sendo assim, os idosos exercem grande influência sobre o perfil de mortalidade populacional e, por conseguinte, sobre a situação de saúde, efeito que tende a aumentar devido ao intenso processo de envelhecimento da população observado no Brasil, sobretudo por conta do percentual de 62,5% dos óbitos atribuídos aos indivíduos de 60 anos ou mais, no ano de 20114 No entanto, esse envelhecimento se apresenta de forma polarizada entre as macrorregiões brasileiras, nas quais o Sul, Sudeste e Centro-Oeste representam um estágio mais avançado que o Norte e Nordeste. Enquanto nas duas primeiras a expectativa de vida ultrapassa os 78 anos, no ano de 2018, no Norte e Nordeste se espera viver até os 72,6 e 73,6 anos, respectivamente. O Centro-Oeste aparece em situação intermediária (75,6 anos). Essa variação é explicada por diferenças sociais e econômicas, vinculadas ao processo histórico de desenvolvimento, industrialização e urbanização de cada região5,6.
Vale destacar que, apesar da proporção de indivíduos que atingem a idade idosa apresentarem valores medianos menores em estados do Nordeste em comparação a outras macrorregiões, esses idosos detêm, além disso, os maiores pesos de participação relativa de longevos (80 anos ou mais de idade) na população total de idosos (15,9% para o total do
Nordeste em 2010), indicador denominado sobre-envelhecimento7. Assim, o Nordeste rompe com as estatísticas e se mostra contraditório em função do maior sobre envelhecimento em meio à realidade de privação e desigualdade de recursos socioeconômicos.
As alterações que constituem e afetam o processo de envelhecimento se apresentam em uma cadeia complexa que, ademais, varia entre os indivíduos. Nesse sentido, a heterogeneidade em saúde se revela como uma marca dos idosos, sendo parte dessa diversidade de características atribuída à idade cronológica, que detém uma grande amplitude nesse grupo e torna necessário olhar para os idosos a partir das diferentes faixas etárias, desde os mais jovens aos mais longevos8,9. Desde a idade que marca o início da faixa etária idosa (60 anos), encontramos indivíduos que vivem até os 122 anos, portanto, com mais da metade do curso da vida classificado como pessoa idosa, conforme o recorde de idade registrado pelo Guinness World Recordsca
Sendo assim, este artigo tem como objetivo analisar a mortalidade da população idosa da região Nordeste do Brasil, no período de 2001 a 2015, sob a perspectiva da sua heterogeneidade, dividindo-a em três faixas etárias: 60 a 69 (sexagenários ou idosos mais jovens), 70 a 79 (septuagenários) e 80 anos ou mais de idade (octogenários, longevos ou sobreenvelhecidos). Essa análise possibilita identificar a escala de prioridades das causas de morte da população idosa, auxiliando a tomada de decisão no planejamento em saúde.
Este artigo é um estudo cuja referência temporal é de corte transversal, analisando o período de 2001 a 2015. Quanto à posição do investigador, é observacional, pois o fenômeno é apenas observado, sem intervenções. Ademais, toma-se o agregado de base territorial da região Nordeste, como tipo operativo, caracterizando-o como estudo ecológico.
O Nordeste, composto por nove estados e 1.794 municípios, é a terceira maior região do país, abrangendo 18,2% do território brasileiro. Destaca-se também a concentração populacional da região, sendo a segunda maior do Brasil. No Censo demográfico realizado em 2010, foram contabilizados 53.081.950 indivíduos residentes na região em questão, sendo 5.456.177 indivíduos de 60 anos ou mais (10,3% da população total). Entre os idosos, são 53,4% com 60 a 69 anos, 30,7% com 70 a 79 anos e 15,9% com 80 anos ou mais de idade.
As variáveis do estudo são dados agregados da região Nordeste. Inicialmente, realizou-se uma análise descritiva da população analisada por meio de frequências absolutas e relativas, o que possibilitou a caracterização desse grupo em relação às variáveis de nível
c Disponível em: http://www.guinnessworldrecords.com/world-records/oldest-person
individual obtidas pelo Sistema de Informações sobre Mortalidade: sexo; raça/cor; estado civil; escolaridade e local de ocorrência do óbito.
As causas básicas de óbito foram agrupadas conforme os capítulos da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde - 10ª Revisão (CID10) e analisadas descritivamente, sendo os dados ausentes desconsiderados. Para cada grupo de idade, calculou-se a Mortalidade Proporcional da Região Nordeste a partir da razão do número de óbitos devido a uma causa no período de 2001 a 2015 e a relação total de óbitos na mesma área e período, multiplicando-se por cem10. Por meio desse dado percentual, é possível identificar claramente as principais causas de óbito e observar as diferenças na escala de prioridades entre as faixas etárias analisadas.
No período de 2001 a 2015, foram registrados 2.461.383 óbitos em idosos na região Nordeste, correspondendo a 24,7% do valor nacional. Entre os óbitos observados, infere-se que a maior parte se deu em indivíduos longevos (1.089.234 ou 44,2%), seguidos dos septuagenários (772.119 ou 31,4%) e idosos mais jovens (600.030 ou 24,4%). Na Tabela 1, apresenta-se a caracterização da população de idosos total e dividida nas três faixas etárias em questão quanto às características individuais e ao local de ocorrência do falecimento.
Desconsiderando-se os dados ausentes, observam-se proporções semelhantes de homens e mulheres, com uma razão de sexo de 104 homens para cada cem mulheres. No entanto, as diferenças de sexo se revelam ao analisarmos os dados por escalas de idade, nas quais a parcela de homens é maior entre os idosos mais jovens, que detêm uma razão de 132 homens para cada cem mulheres. Com o avançar da idade, a porção de indivíduos do sexo masculino decresce para 113 a cada cem do sexo feminino no grupo de septuagenários, até que tal relação se inverte entre os idosos longevos, com 85 homens a cada cem mulheres.
A raça/cor parda prevalece em óbitos da população idosa total e nas suas subdivisões, porém sua importância diminui conforme a idade. Enquanto os idosos pardos têm uma carga de óbitos de 30% a mais que os brancos nas idades mais jovens, estes gradualmente atingem idades mais avançadas e essa diferença reduz para 10,9% nas mortes aos 80 anos ou mais de idade. Observa-se, ainda, uma menor representatividade da raça/cor preta, com 7,6% do total de óbitos em idosos e uma pequena variação nas três faixas etárias estudadas.
No que diz respeito ao estado civil, os indivíduos casados correspondem a maior parte dos óbitos na população idosa, seguidos dos viúvos e solteiros. Os três subgrupos de idade são semelhantes quanto à última categoria, com proporções de cerca de 21%. Entre os
idosos mais jovens e septuagenários, os casados detêm mais de 40% das mortes e declinam para 27,2% no grupo de longevos, dando lugar aos indivíduos viúvos (39,3%), que aumentam sua proporção substancialmente com o avançar da idade.
Tabela 1 – Caracterização da população idosa total e dividida nas faixas etárias de 60-69, 70-79 e 80 anos ou mais, que faleceu no período de 2001 a 2015 no Nordeste do Brasil. Natal, Rio Grande do Norte, Brasil – 2019.
O nível de escolaridade da maior parte dos idosos que faleceram no período observado se revela extremamente baixo, com 51,2% dos dados válidos correspondentes a nenhum ano de estudo. Nas três faixas etárias de estudo, a escolaridade diminui com o avançar da idade, partindo de 71,0% de idosos mais jovens com zero a três anos de estudo para 78,1% dos septuagenários e 83,6% dos longevos.
Com relação ao local de ocorrência, 95,6% do total de falecimentos ocorrera no hospital ou em domicílio, com predominância do primeiro. Essa variável, cujo indicador é o nível de acesso e tipo de assistência à saúde, mostra que o cuidado hospitalar é maior entre os idosos mais jovens, diminuindo com o avançar da idade, consequentemente, o ambiente domiciliar se configura como o local mais comum de falecimento dos longevos, em detrimento dos hospitais.
À exceção do sexo, destaca-se a perda de informação nas variáveis que tratam da identificação do indivíduo. As falhas no preenchimento da Declaração de Óbito atingem principalmente a variável escolaridade, com 32,6% de dados ignorados, seguida da raça/cor (12,7%) e estado civil (10,7%).
A respeito das causas de morte, a Figura 1 expressa os valores de mortalidade proporcional ordenados segundo a escala de prioridades para cada faixa etária analisada. As doenças com maior carga de mortalidade em idosos se referem àquelas do aparelho circulatório, correspondendo a mais de 30% dos óbitos em todos os grupos de idade observados, sendo ainda mais expressiva entre os idosos de 70 a 79 anos (36,5% dos óbitos). No entanto, os diferenciais na escala de prioridades por faixa etária se manifestam como a segunda maior causa de morte, representada pelas neoplasias para os idosos mais jovens e septuagenários, e pelas causas mal definidas para os longevos.
As neoplasias e as causas mal definidas apresentam evolução em sentidos inversos ao longo das faixas etárias. As primeiras apresentam maior carga de óbitos entre os idosos sexagenários, com valor de mortalidade proporcional de 18,4%, e decrescem nos grupos de maior idade, chegando à metade dessa proporção entre os longevos (8,9%). Já as causas mal definidas representam 15,4% dos óbitos na população total de idosos e demonstram um aumento da carga de mortalidade com o avançar da idade, atingindo 18,9% entre os indivíduos de 80 anos ou mais.
Detalhando o capítulo XVIII da CID-10, temos que, entre os 378.963 óbitos de idosos por causas mal definidas, 66,6% correspondem aos óbitos sem assistência médica, sendo os indivíduos de 60 a 69 anos a parcela da população idosa com a menor proporção (63,1%). Apenas 3,3% dos óbitos referentes ao capítulo XVIII foram registrados como decorrentes do próprio envelhecimento, os quais estão concentrados no grupo de indivíduos longevos (92,2% das mortes por senilidade). Quanto aos 30,0% dos óbitos por causas mal definidas remanescentes, esses óbitos foram classificados entre o restante dos sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, obtendo uma maior carga na faixa etária de idosos longevos.
Revista Baiana de Saúde Pública
Figura 1 – Óbitos de idosos conforme idade e causas na região Nordeste, 2001-2015. Natal, Rio Grande do Norte, Brasil – 2019.
IX- Doenças do aparelho circula tório
XVI II- Causas mal defi nidas
II- Neopla sia s
X- Doenças do aparelho respiratóri o
IV- Doenças endócri nas, nutricionais e metabó licas
XI- Doenças do aparelho digestivo
XX- Causas externas
I-Doenças infecciosas e parasi tárias
XIV- Do enças do aparelho geniturinári o
Mortalidade Proporcional
Fonte: Elaboração própria
A quarta causa de óbito mais importante na população total de idosos diz respeito às doenças do aparelho respiratório, com um valor de mortalidade proporcional de 10,6%. Todavia, esse capítulo contém expressivas diferenças na carga de óbitos entre as faixas etárias, sendo a terceira maior causa de morte entre os longevos (13,0%) e a quinta entre os septuagenários e sexagenários (9,6% e 7,4%, respectivamente). Já as doenças endócrinas, metabólicas e nutricionais apresentam valores de mortalidade proporcional semelhantes entre as faixas etárias (cerca de 9%).
Quanto às doenças do aparelho digestivo, que representam a sexta maior causa de morte no total de idosos e nas suas faixas etárias, observa-se uma evolução em sentido inverso ao das doenças do aparelho respiratório. As cargas de óbitos atribuídas àquela diminuem continuamente com o avançar da idade, passando de 5,9% entre os idosos de 60 a 69 anos para 3,2% entre os de 80 anos ou mais.
Entre os capítulos com os menores valores de mortalidade proporcional em idosos, temos que as causas externas, as doenças infecciosas e parasitárias também diminuem em grupos de maior idade. O primeiro apresenta variações entre as faixas etárias, com decréscimo de 4,8% em idosos mais jovens para 2,1% em longevos, ao passo que as doenças infecciosas e parasitárias variam apenas 0,7% entre os idosos. Na categoria “Outras”, foram agrupadas as doenças com proporção inferior a 2%, que demonstram uma maior proporção de óbitos entre os indivíduos longevos.
O olhar para a população de idosos de forma desagregada em três faixas etárias propiciou captar a variabilidade presente nesse segmento. Observa-se que as cinco principais causas de morte são semelhantes entre os subgrupos e respondem por 84,1% dos óbitos da população idosa total, estando de acordo com o avanço do processo de transição epidemiológica, no qual há maior prevalência de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) e maior carga de óbitos entre os mais idosos11. Em ordem decrescente da escala de prioridades, as principais causas dizem respeito às doenças do aparelho circulatório, causas mal definidas, neoplasias, doenças do aparelho respiratório e doenças endócrinas, metabólicas e nutricionais. Com exceção das doenças do aparelho circulatório, que ocupam a primeira posição sempre, há variações na ordem de algumas causas dos idosos longevos em comparação aos outros segmentos.
Entre os indivíduos de 80 anos ou mais, as causas mal definidas e as doenças do aparelho respiratório se destacam na segunda e terceira posições, respectivamente, em detrimento das neoplasias e doenças endócrinas, metabólicas e nutricionais. Já nos idosos de 60 a 69 e 70 a 79 anos de idade, as neoplasias representam a segunda causa mais importante de óbito, seguidas das causas mal definidas, doenças endócrinas, metabólicas e nutricionais, e doenças do aparelho respiratório. Diante disso, infere-se que os idosos longevos demandam uma atenção diferenciada da população de idosos em geral, sobretudo no que se refere à implementação de políticas públicas voltadas à prevenção e tratamento das doenças respiratórias, bem como uma melhor determinação da causa básica nas declarações de óbito.
Em contrapartida, os óbitos em idosos de 60 a 69 anos também suscitam uma especial atenção por parte das políticas públicas, já que que ocorrem em idades inferiores ao da expectativa de vida. Se considerarmos o período a mais esperado que um idoso de 60 anos viva, um óbito nessa idade significa uma perda de potenciais 22,5 anos de sobrevivência no Brasil e 21,4 anos no Nordeste, segundo a esperança de vida em 2018, caracterizando uma mortalidade precoce12. Sendo assim, os óbitos em idosos mais jovens devem ser vistos como de grande relevância no planejamento em saúde com vistas a redução das mortes evitáveis, o qual se torna mais eficaz se norteado pelo delineamento do perfil epidemiológico.
As causas mal definidas representam um importante problema na qualidade das informações observadas. A dificuldade na determinação da causa do óbito afeta principalmente a população de 80 anos ou mais de idade, cuja proporção do capítulo em questão foi de 18,9% das mortes em todo o Nordeste, enquanto o ideal, estabelecido para a população total, é não ultrapassar a margem entre 7% e 10%13. A lacuna deixada pelo desconhecimento da causa básica de tamanho percentual de óbitos afeta o planejamento em saúde, já que a informação é um instrumento essencial e fator desencadeador da tríade informação, decisão e ação14
Essa alta carga de causas mal definidas observada entre os longevos pode ser influenciada pela maior frequência de óbitos em domicílio nessa faixa etária (48,9%). Com relação à existência do programa de atenção domiciliar do Sistema Único de Saúde e da priorização da assistência aos idosos de 80 anos ou mais de idade, que no Brasil recebem 85% mais atendimentos que os idosos de 60 e 65 anos, acredita-se que o cuidado domiciliar limita o acompanhamento médico mais próximo do que se daria em ambiente hospitalar para compreender a causa do óbito. Contudo, esse programa é benéfico à população idosa e deve ser incentivado por apresentar vantagens quanto ao potencial de ampliar o acesso dos indivíduos com incapacidades aos serviços, humanizar o cuidado e fortalecer o vínculo das equipes de saúde com a população, além de evitar quadros de complicações clínicas decorrentes de internações hospitalares15. Por produzir consequências negativas à saúde do idoso, como diminuição da capacidade funcional, da qualidade de vida e aumento da fragilidade, a hospitalização deveria ser indicada somente quando esgotadas as outras opções de cuidado16
Entre os problemas que afetam a qualidade das informações, salientam-se: a falta de capacitação e alta rotatividade dos profissionais que trabalham com o SIM; a dificuldade de acesso e fixação do profissional médico, levando à emissão de Declaração de Óbito (DO) pelos cartórios e sua classificação como óbito sem assistência médica; o sepultamento sem exigência de documento em cemitérios não oficiais; a dificuldade de controle da ocorrência dos eventos devido à grande extensão da zona rural; e a não incorporação da busca ativa e análise de
óbitos com problemas na determinação da causa. Além disso, características do falecido, da causa do óbito e do atestante podem determinar falhas na acurácia da DO. A capacitação dos profissionais médicos e gestores deve, então, realizar uma ampla discussão sobre a importância das estatísticas de mortalidade e o adequado preenchimento da DO, bem como é importante promover a educação continuada e uma maior vigilância sobre a qualidade das informações13,16 Mesmo quando feito o registro do óbito, encontramos falhas no preenchimento das DO quanto às características individuais dos falecidos. O grau de escolaridade constitui o campo de maior dificuldade de preenchimento, cujo percentual de dados “em branco” chegou a 32,6% no total dos idosos observados. Além disso, chama atenção nessa variável o elevado percentual de indivíduos que não completaram sequer um ano de estudo (34,5%). A baixa escolaridade se agrava com o avançar da idade, possibilitando uma compreensão de que os menos escolarizados têm maior sobrevida, contraditória ao modelo teórico dos Determinantes Sociais da Saúde17. Na verdade, essa menor escolaridade entre os idosos mais longevos pode ser justificada pela dificuldade de acesso desses idosos ao sistema educacional no passado, em todo o Brasil. Foi apenas no final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX que o ensino na infância começou a ser incentivado e, portanto, os atuais idosos longevos se beneficiaram menos das políticas educacionais18.
A importância das doenças cardiovasculares no perfil epidemiológico é compatível com a realidade mundial, responsáveis por 30% de todas as mortes por causa conhecida19.
Apesar do decréscimo que essas doenças vêm apresentando nas taxas de mortalidade da população total no Brasil e no mundo em decorrência de medidas preventivas, ainda persiste uma tendência crescente quando se trata do segmento de idosos, com um aumento de 53,7% do número global de mortes entre 1990 e 2016 para os indivíduos com 70 anos ou mais de idade, segundo o Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study 20161,20. Parte desse aumento no Brasil pode estar relacionada ao paralelo declínio das taxas de óbitos por causas mal definidas, dado que a maioria delas, que são mais frequentes em idosos, tem as doenças do aparelho circulatório como provável causa21
Assim como ocorre na maioria dos países, as neoplasias representam a segunda causa de morte em relação às causas conhecidas no Nordeste em geral. No entanto, sua importância é menor entre os idosos longevos, ocupando apenas a quarta posição, devido à maior taxa óbitos por causas mal definidas e doenças respiratórias nesse grupo. Tendo em vista a longevidade populacional e que o envelhecimento constitui o principal fator de risco para o desenvolvimento das neoplasias, as neoplasias têm apresentado uma tendência de crescimento na população, estimando-se que em breve ultrapassará as doenças do aparelho circulatório em
países desenvolvidos. Apesar da relevância, ainda é limitado o acesso dos pacientes idosos aos serviços de saúde de qualidade, inclusive para prevenção, informação e rastreamento clínico20,22.
As doenças respiratórias também constituem um ponto divergente do padrão epidemiológico dos longevos com relação às outras faixas etárias. Enquanto representam a terceira maior causa de morte dessa população, em perfis dos sexagenários e septuagenários elas ocupam a quinta posição. Essa tendência de aumento com o avanço da idade está alinhada com a maior susceptibilidade fisiológica e imunológica às doenças respiratórias, decorrentes da perda de elasticidade dos pulmões, movimento ciliares reduzidos, prejuízo no reflexo da tosse e redução na superfície de respiração pela dilatação e diminuição do número de alvéolos23. Tais alterações são ainda mais encontradas em indivíduos acamados, sobretudo entre idosos de 80 anos ou mais de idade, ratificando a necessidade de maior atenção para as doenças respiratórias nesse grupo etário24
A vacinação contra influenza é considerada uma das principais intervenções para a prevenção de doenças respiratórias, reduzindo as internações hospitalares e o agravamento da gripe para a pneumonia ou morte. Entretanto, ainda é necessário elaborar estratégias para a maior adesão dos idosos às campanhas de vacinação, bem como o desenvolvimento de vacinas mais eficazes para o público idoso e adaptadas a um calendário que considere as variações regionais de sazonalidade23,25.
Diferenças entre as faixas etárias foram encontradas também com relação às doenças endócrinas, metabólicas e nutricionais, que representam a quinta causa de morte para os idosos de 80 anos ou mais de idade, mas produzem um maior efeito entre idosos de 60 a 69 anos e 79 a 79 anos (quarta maior carga de óbitos). Neste capítulo, destaca-se a diabetes melito, que representa uma epidemia mundial e tem o Brasil como quarto país em número de casos no mundo. Nesse contexto, a região Nordeste apresenta um quadro ainda mais grave por ter uma das maiores taxas de mortalidade do Brasil, ilustrando uma iniquidade regional, dado que a maioria das complicações agudas podem ser evitadas. Essa realidade está vinculada às desigualdades demográficas, socioeconômicas, de recursos e de cobertura dos serviços de saúde pública, que levam a um menor conhecimento sobre essa doença e os cuidados necessários, bem como a uma menor qualidade em processos de diagnóstico, tratamento continuado e atendimento das crises agudas26
Entre os outros capítulos CID-10, que apresentaram menor expressão como causa básica dos óbitos estudados (15,9% dos óbitos), sabe-se que as causas externas também ocupam a sétima posição na carga de mortalidade entre os idosos do Brasil, enquanto na população em geral é a terceira causa mais importante. Tamanha divergência pode ser explicada pela menor exposição à violência com o avançar da idade, no entanto, na população idosa, preocupa a maior vulnerabilidade às quedas e atropelamentos, que interferem consideravelmente na
capacidade funcional e aumenta o risco de morte27. Já a menor representatividade das doenças do aparelho digestivo e as doenças infecciosas e parasitárias, que também são importantes para o padrão sanitário populacional, relaciona-se com a menor letalidade nos dias atuais, dificultando a aferição pelos dados de mortalidade, e sim pelos de morbidade28
Evidencia-se, assim, a limitação em se considerar apenas a mortalidade para compreensão completa do real padrão sanitário de uma população, apesar de constituir uma das principais medidas de saúde. Especialmente na atual conjuntura de envelhecimento populacional, com alta prevalência de doenças crônicas e multimorbidades, uma vida longa não significa vida saudável. Doenças podem estar presentes por muitos anos na vida do indivíduo, prejudicando-o, mas não sendo letal. Portanto, doenças assim não serão bem avaliadas por indicadores de mortalidade. Indicadores de morbidade e que contemplem a qualidade de vida são importantes para melhor conhecer o estado de saúde da população29.
À parte disso, há doenças, como a desnutrição, importantes como uma causa consequencial ou contribuinte do óbito, não sendo captadas em estudos da causa básica. Portanto, este estudo retrata parcialmente a situação de saúde dos idosos do Nordeste, fazendo-se necessária a complementação com estudos das causas múltiplas de morte (básica, consequenciais e contribuintes) para uma compreensão mais ampla30.
Este artigo detecta uma variabilidade presente na população idosa em função da idade, cuja população de 80 anos ou mais se diferencia do restante do segmento. As doenças do aparelho circulatório são a maior causa de morte para todos os grupos de idosos, mas as doenças do aparelho respiratório e causas mal definidas se destacam na escala de prioridade dos octogenários, enquanto as neoplasias e doenças endócrinas, metabólicas e nutricionais são mais relevantes entre os sexagenários e septuagenários. Tal heterogeneidade suscita um olhar diferenciado para o planejamento em saúde da população idosa, devendo-se considerar as peculiaridades dos octogenários. Ademais, destaca-se a necessidade de melhorias na qualidade das informações inseridas na declaração de óbito, especialmente quanto à determinação da causa básica.
1. Concepção do projeto, análise e interpretação dos dados: Tamires Carneiro de Oliveira Mendes e Kenio Costa Lima.
2. Redação do artigo e revisão crítica relevante do conteúdo intelectual: Tamires Carneiro de Oliveira Mendes e Kenio Costa Lima.
3. Revisão e/ou aprovação final da versão a ser publicada: Tamires Carneiro de Oliveira Mendes e Kenio Costa Lima.
4. Ser responsável por todos os aspectos do trabalho na garantia da exatidão e integridade de qualquer parte da obra: Tamires Carneiro de Oliveira Mendes e Kenio Costa Lima.
1. Naghavi M, Abajobir AA, Abbafati C, Abbas KM, Abd-Allah F, Abera SF, et al. Global, regional, and national age-sex specific mortality for 264 causes of death, 1980–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet. 2017;390(10100):1151-210.
2. World Health Organization. Framework and standards for country health information systems [Internet]. 2008 [citado em 2015 jan 9]. Disponível em: http://www.who.int/healthmetrics/documents/hmn_framework200803.pdf
3. Lima-Costa MF, Peixoto, SV, Matos DL, Firmo JOA, Uchôa E. Predictors of 10-year mortality in a population of community-dwelling Brazilian elderly: the Bambuí cohort study of aging. Cad Saúde Pública. 2011;27(3):360-69.
4. Oliveira TC, Medeiros WR, Lima KC. Diferenciais de mortalidade por causas nas faixas etárias limítrofes de idosos. Rev Bras Geriatr Gerontol. 2015;18(1):85-94.
5. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Projeção da população do Brasil e Unidades da Federação por sexo e idade para o período 2010-2060 [Internet]. 2018 [citado em 2018 nov 10]. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/sociais/populacao/9109projecao-da-populacao.html?=&t=resultados
6. Oliveira TC, Medeiros WR, Lima KC. Diferenciais sócio-demográficos da mortalidade de idosos em idades precoces e longevas. Rev Baiana Saúde Pública. 2015;39(2):249-61.
7. Brasil. Ministério da Saúde. Departamento de Informática do SUS. Transformação digital para o SUS [Internet]. 2018 [citado em 2018 fev 22]. Disponível em: http://datasus.saude.gov.br
8. Beard JR, Bloom DE. Towards a comprehensive public health response to population ageing. Lancet. 2015;385(9968):658-61
9. Giacomin K. Contradições do Estado brasileiro ante o envelhecimento do seu povo. Argumentum. 2014;6(1):22-33.
10. Brasil. Ministério da Saúde. Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Fichas de Qualificação da RIPSA – 2011. Mortalidade [Internet]. 2015 [citado em 2015 jan 20]. Disponível em: http://fichas.ripsa.org.br/2011/category/ mortalidade/?l=pt_BR
11. Boccolini PMM, Duarte CMR, Marcelino MA, Boccolini CS. Desigualdades sociais nas limitações causadas por doenças crônicas e deficiências no Brasil: Pesquisa Nacional de Saúde – 2013. Ciênc Saúde Coletiva. 2017;22(11):3537-46.
12. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Tábuas completas de mortalidade [Internet]. 2014 [citado em 2015 fev 11]. Disponível em: http://www.ibge.gov. br/home/estatistica/populacao/projecao_da_populacao/2013/default_tab.shtm
13. Campos D, Hadad SC, Abreu DMX, Cherchiglia ML, França E. Sistema de Informações sobre Mortalidade em municípios de pequeno porte de Minas Gerais: concepções dos profissionais de saúde. Ciênc Saúde Colet. 2013;18(5):1473-82.
14. Minto CM, Alencar GP, Almeida MF, Silva ZP. Descrição das características do Sistema de Informações sobre Mortalidade nos municípios do estado de São Paulo, 2015. Epidemiol Serv Saúde. 2017;26(4):869-80.
15. Wachs LS, Nunes BP, Soares MU, Facchini LA, Thumé E. Prevalência da assistência domiciliar prestada à população idosa brasileira e fatores associados. Cad Saúde Pública. 2016;32(3):1-9.
16. Silva JAC, Yamaki VN, Oliveira JPS, Teixeira RKC, Santos FAF, Hosoume VSN. Declaração de óbito, compromisso no preenchimento. Avaliação em Belém – Pará, em 2010. Rev Assoc Med Bras. 2013;59(4):335-40.
17. Dalghren G, Whitehead M. Policies and strategies to promote social equity in health. Stockholm: Institute for Future Studies; 1991.
18. Rodrigues MB. Conceitos e práticas educativas nos regimentos escolares no Rio Grande do Norte (1910 – 1930). Natal (RN). Dissertação [Mestrado em Educação] – Universidade Federal do Rio Grande do Norte; 2012.
19. Marques LP, Confortin SC. Doenças do Aparelho Circulatório: Principal Causa de Internações de Idosos no Brasil entre 2003 e 2012. Rev Bras Saúde. 2015;19(2):83-90.
20. Malta DC, Moura L, Prado RR, Escalante JC, Schmidt MI, Duncan BB. Mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis no Brasil e suas regiões, 2000 a 2011. Epidemiol Serv Saúde. 2014;23(4):599-608.
21. Gaui EN, Oliveira GMM, Klein CH. Mortalidade por Insuficiência Cardíaca e Doença Isquêmica do Coração no Brasil de 1996 a 2011. Arq Bras Cardiol. 2014;102(6):557-65.
22. Corrêa ERP, Miranda Ribeiro A. Ganhos em expectativa de vida ao nascer no Brasil nos anos 2000: impacto das variações da mortalidade por idade e causas de morte. Ciênc Saúde Colet. 2017;22(3):1007-17.
23. Gomes AA, Nunes MAP, Oliveira CCC, Lima SO. Doenças respiratórias por influenza e causas associadas em idosos de um município do Nordeste brasileiro. Cad Saúde Pública. 2013;29(1):117-22.
24. Oliveira TC, Medeiros WR, Lima KC. Diferenciais de mortalidade por causas nas faixas etárias limítrofes de idosos. Rev Bras Geriatr Gerontol. 2015;18(1):85-94.
25. Maia CS, Castanheiras GGR, Montenegro LC, Pimenta AM. Influência da campanha vacinal contra influenza sobre a morbimortalidade de idosos por doenças respiratórias em Minas Gerais, Brasil. Rev Atenção Saúde. 2015;13(46):91-8.
26. Klafke A, Duncan RB, Rosa RS, Moura L, Malta DC, Schmidt MI. Mortalidade por complicações agudas do diabetes melito no Brasil, 2006-2010. Epidemiol Serv Saúde. 2014;23(3):455-62.
27. Carmo EA, Souza TS, Nery AA, Vilela ABA, Martins Filho IE. Trend of mortality from external causes in elderly. J Nurs UFPE. 2017;11(1):374-83.
28. Pilger C, Lentsk MH, Vargas G, Baratieri T. Causas de internação hospitalar de idosos residentes em um município do Paraná, uma análise dos últimos 5 anos. Rev Enferm. 2011;1(3):394-402.
29. Szwarcwald CL, Montilla DER, Marques AP, Damacena GN, Almeida WS, Malta DC. Desigualdades na esperança de vida saudável por Unidades da Federação. Rev Saúde Pública. 2017;51(1):1-7.
30. Martins EF, Almeida PFB, Paixão CO, Bicalho PC, Errico LSP. Causas múltiplas de mortalidade materna relacionada ao aborto no Estado de Minas Gerais, Brasil, 2000-2011. Cad Saúde Pública. 2017;33(1):1-11.
Recebido: 20.5.2019. Aprovado: 24.5.2022.
HOSPITAIS DO EXTREMO SUL DO BRASIL
Ewerton Cousina
https://orcid.org/0000-0003-3455-8865
Samuel Carvalho Dumithb
https://orcid.org/0000-0002-5994-735X
O objetivo deste estudo foi avaliar o perfil dos pacientes submetidos a cirurgias traumato-ortopédicas. Trata-se de um estudo transversal, incluindo todos os pacientes submetidos a cirurgias traumato-ortopédicas em hospitais centro de referência estadual na cidade do Rio Grande (RS), no ano de 2014. Os dados foram coletados a partir dos prontuários dos pacientes. Foram coletadas informações de 1.791 cirurgias. Os resultados demonstraram que 57,7% dos pacientes eram do sexo masculino e a média de idade foi de 46,1 anos (DP = 22,2). As cirurgias foram realizadas predominantemente nos membros inferiores (60,6%) e a lesão mais frequente foi a fratura (61,1%). A maior parte das lesões teve causa traumática (66,3%), e as quedas representaram 54,2% dessas causas. A mediana do tempo de internação foi de três dias (média = 5,8). As informações obtidas a partir deste estudo poderão contribuir para um maior conhecimento do tipo de serviço prestado, auxiliando na gestão, no planejamento e no direcionamento de políticas públicas.
Palavras-chave: Centros de traumatologia. Traumatologia. Ortopedia. Epidemiologia.
a Programa de Pós-graduação em Saúde Pública, Universidade Federal do Rio Grande. Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil. E-mail: ewertoncousin@hotmail.com
b Doutor em Epidemiologia. Bolsista PQ-2 do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Professor na Universidade Federal do Rio Grande. Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil. E-mail: scdumith@yahoo.com.br
Endereço para correspondência: Programa de Pós-graduação em Saúde Pública da Universidade Federal do Rio Grande. Rua Visconde de Paranaguá, n. 102, 4º piso. Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil. CEP: 96200-190. E-mail: ewertoncousin@hotmail.com
Abstract
This study evaluates the profile of patients undergoing trauma and orthopedic surgery. A cross-sectional research was conducted with all patients undergoing trauma and orthopedic surgery in two state reference center hospitals in the city of Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brazil, in 2014. Data were collected from patient medical records, totaling 1,791 surgeries. Results showed that 57.7% of patients were men, with an mean age of 46.1 years (SD = 22.2). Surgeries were performed predominantly in the lower limbs (60.6%), the most common injury was fractures (61.1%). Most injuries were traumatic (66.3%), and falls accounted for 54.2% of these causes. The median length of hospitalization was three days (mean = 5.8). These findings may contribute to a better understanding of the type of service provided, helping in the management, planning and direction of public policy.
Keywords: Trauma centers. Traumatology. Orthopedics. Epidemiology.
Resumen
El objetivo de este estudio fue evaluar el perfil de los pacientes sometidos a cirugías traumatológicas y ortopédicas. Se trata de un estudio transversal, que incluyó a todos los pacientes sometidos a cirugías traumatológicas y ortopédicas en hospitales centros de referencia estaduales de la ciudad de Rio Grande, en Rio Grande do Sul (Brasil), en 2014. Los datos se recogieron de las historias clínicas de los pacientes. Se recopiló información de 1.791 cirugías. Los resultados mostraron que el 57,7% de los pacientes eran del sexo masculino y que la edad media fue de 46,1 años (DE = 22,2). Las cirugías se realizaron predominantemente en los miembros inferiores (60,6%), y la lesión más frecuente fue la fractura (61,1%). La mayoría de las lesiones tuvo una causa traumática (66,3%), y las caídas representaron el 54,2% de estas causas. La mediana de estancia de hospitalización fue de tres días (media = 5,8). La información recabada en este estudio puede contribuir a una mejor comprensión del tipo de servicio que se brinda, ayudando en la gestión, planificación y orientación de las políticas públicas.
Palabras clave: Centros de traumatología. Traumatología. Ortopedia. Epidemiología.
As lesões traumato-ortopédicas acometem o sistema musculoesquelético, podendo ocorrer devido ao desgaste ósseo quanto devido a alguma força externa1,2. Nos serviços de cirurgias de traumato-ortopedia, as fraturas são as lesões mais frequentes3,4. Percebe-se uma mudança no perfil desses pacientes com um aumento no número de fraturas osteoporóticas em idosos, contrabalanceando com as fraturas em adultos jovens4. Pacientes vítimas de trauma musculoesquelético são predominantemente do sexo masculino e adultos jovens3,5-7. Os principais motivos de lesões traumáticas são as quedas e os acidentes de trânsito5,6
O Brasil é um país de dimensões continentais cujas transformações econômicas, sociais e ambientais estão causando mudanças na epidemiologia das lesões por fatores externos8 – principais causas das lesões traumato-ortopédicas. As Autorizações de Internação Hospitalar (AIH), aprovadas por causas externas no ano de 2014, totalizaram 1.123.716 no Brasil, 187.265 na região Sul, 62.484 no estado do Rio Grande do Sul, e 1.797 no município de Rio Grande9. Esses números correspondem a um aumento de 41% no Brasil e na região Sul; 37% no estado do Rio Grande do Sul; e 14% no município de Rio Grande; em relação às AIH aprovadas no ano de 20089
O conhecimento do perfil dos pacientes, as lesões comuns, suas principais causas e a demanda que o serviço atende são fatores de grande importância para criação de políticas públicas de saúde, podendo ser utilizadas para melhorar o serviço prestado à população3,10-11, já que, conforme a literatura, os estudos epidemiológicos de traumato-ortopedia em unidades de atendimento limitam-se a avaliar somente algum tipo de lesão específica ou lesões traumáticas. Portanto, há uma lacuna sobre as características dos pacientes submetidos a cirurgias traumato-ortopédicas em hospitais, principalmente nos centros de referência. Dessa forma, este estudo teve por objetivo avaliar o perfil dos pacientes submetidos a cirurgias traumato-ortopédicas em dois hospitais, centros de referência estadual, em um município do extremo sul do Brasil.
Trata-se de um estudo observacional de caráter transversal. O estudo foi realizado no município de Rio Grande (RS), localizado no extremo sul do Brasil, uma cidade litorânea e portuária, com uma população de 197.228 habitantes em 2010, com produto interno bruto (PIB) em 2012 de R$ 8.965.447.000,00 e PIB per capita de R$ 45.088,30, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)12. A cidade possui dois hospitais que são centros de referência de média e alta complexidade em ortopedia e traumatologia, responsáveis por atender
Revista Baiana de Saúde Pública
27 municípios da região Sul do estado, correspondente a uma população de aproximadamente
730.000 habitantes13 (Quadro 1)
Quadro 1 – Centros de referência em traumato-ortopedia, conforme Secretária
Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul. Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil – 2014 Hospital Municípios População
Hospital Santa Casa – Rio Grande –STO/STOU
Hospital Universitário Dr. Miguel Riet
Corrêa Jr./ FURG – STO/ STOU/ STOP
Amaral Ferrador; Arroio do Padre; Canguçu; Capão do Leão; Chuí; Cristal; Morro Redondo; Pinheiro Machado; Rio Grande; Santa Vitória do Palmar; Santa da Boa Vista; São José do Norte; São Lourenço do Sul; Turuçu.
Aceguá; Bagé; Candiota; Dom Pedrito; Hulha Negra; Lavras do Sul; Arroio Grande; Cerrito; Herval; Jaguarão; Pedras Altas; Pedro Osório; Piratini.
FURG – Universidade Federal do Rio Grande
STO – Serviço de Traumato-Ortopedia
STOP – Serviço de Traumato-Ortopedia Pediátrica
STOU – Serviço de Traumato-Ortopedia de Urgência
Fonte: Elaboração própria
440.632
290.291
O grupo estudado corresponde a todos os pacientes submetidos, em 2014, a cirurgias traumato-ortopédicas nos hospitais centros de referência em ortopedia e traumatologia da cidade de Rio Grande, Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. (HU/FURG) e o Hospital Santa Casa da Associação de Caridade Santa Casa do Rio Grande (ACSCRG). Foram desconsideradas as cirurgias ambulatoriais (pacientes que não foram internados para realizar a cirurgia) e os pacientes de cirurgias realizadas por profissionais que não eram médicos ortopedistas e traumatologistas, exceto em cirurgias de coluna, que ocorreram na ACSCRG, feitas por neurocirurgiões, especificamente nos procedimentos de hérnia de disco – doença degenerativa da coluna e fratura da coluna. A coleta de dados foi realizada entre abril e setembro de 2015.
O HU/FURG dispõe de 12 médicos preceptores traumato-ortopedistas e nove médicos residentes em traumato-ortopedia. O hospital abriga cinco salas de cirurgia utilizadas por todas as especialidades; 12 leitos na clínica de traumato-ortopedia e cinco leitos na clínica cirúrgica, disponíveis para pacientes traumato-ortopédicos. As crianças são internadas nos leitos da pediatria.
A ACSCRG conta com dez médicos cirurgiões traumato-ortopedistas e quatro neurocirurgiões que realizam cirurgias na coluna. O hospital abriga seis salas de cirurgia, sendo uma específica para casos de traumato-ortopedia; uma para emergência; e outra para neurocirurgia. Também há 48 leitos disponíveis na ala de traumato-ortopedia.
As unidades de análise foram: sexo, idade, cidade de residência e o procedimento cirúrgico. A cirurgia foi considerada o ato cirúrgico, constando os procedimentos descritos na folha de cirurgia, considerando mais de um procedimento na mesma cirurgia.
As variáveis de interesse coletadas dos prontuários dos pacientes foram:
(1) Sexo: masculino; feminino.
(2) Idade em anos completos: agrupada em 0-17; 18-39; 40-59; 60 ou mais.
(3) Município de residência: agrupados em Rio Grande; outras cidades da região de cobertura; cidades fora da região de cobertura (de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde) (Quadro 1)10
(4) Local da lesão: agrupados em coluna, membros superiores, membros inferiores. Doze cirurgias foram realizadas em membros superiores e inferiores simultaneamente, e foram agrupadas junto aos membros inferiores, já que esse agrupamento possuía o maior número de casos.
(5) Causa da lesão: agrupadas em trauma não descrito, queda; acidente de trânsito, outras causas traumáticas, causas não traumáticas. Lesões não traumáticas, embora ocorressem em decorrência de traumas prévios, como pseudoartrose, osteomielite e fratura consolidada, foram consideradas como lesões de causas não traumáticas. É importante ressaltar que, ao longo do texto, foram apresentados dados referentes somente às causas traumáticas. Dessa forma, estão excluídos os casos de causas traumáticas não descritas e causas não traumáticas, provenientes de análises não inseridas nas tabelas.
(6) Lesão: agrupadas em fratura, artrose; hérnia discal, doença degenerativa da coluna (DDC), lesão ligamentar, lesão meniscal, ruptura de tendão, osteomielite, pseudoartrose, fratura consolidada e outros.
(7) Tipo de cirurgia: agrupados em osteossíntese, artroplastia, artrodese, discectomia, retirada de material de síntese, tenorrafia, reconstrução ligamentar, meniscectomia e outros.
(8) Tempo de internação em dias (criada a partir da diferença entre a data de saída e a data de internação): agrupados em 0-2; 3-5; 6 ou mais. Nos casos de mais de uma cirurgia em uma mesma internação, o tempo de internação da primeira cirurgia foi elaborado a partir da diferença entre a data de internação até a data da segunda cirurgia; e o tempo de internação da segunda cirurgia foi criado a partir data da segunda cirurgia até a data de alta médica, ou até a data da próxima cirurgia.
(9) Estação do ano (criada a partir da data de internação): verão, outono, inverno, primavera.
(10) Tipo de serviço hospitalar: agrupados em Sistema único de Saúde (SUS), convênio, plano de saúde e particular.
(11) Hospital: HU/FURG e ACSCRG. O primeiro autor solicitou aos setores de ortopedia, traumatologia e faturamento a lista dos pacientes que foram submetidos à cirurgia traumato-ortopédica em 2014. As variáveis sexo, idade, município de residência, local da lesão, motivo do trauma, tipo de cirurgia, tipo de serviço hospitalar, data de internação, data de cirurgia e tempo de internação foram coletadas nos prontuários dos pacientes, no setor Serviço de Arquivo Médico (SAME) no HU/FURG; e no setor Arquivo na ACSCRG. Quando a informação de alguma variável não constava no prontuário, essa informação foi deixada como “missing”, exceto em lesões traumáticas, devido ao grande número de prontuários que não continham esta informação.
Os dados foram digitados em uma planilha no programa EpiData3.1. Após a coleta, foram transferidos para o pacote estatístico STATA 13 IC, a fim de análise. A análise descritiva dos dados comparou as prevalências das variáveis categóricas, estratificando por hospital, sexo, idade e cidade de residência, utilizando o teste exato de Fisher e qui-quadrado, sendo adotado nível de significância de 5% para testes bicaudais.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande (CEPAS/FURG) pelo parecer 38/2015 e da Associação de Caridade Santa Casa do Rio Grande (CEPAS/ACSCRG) pelo parecer 04/2015.
Foram identificadas 1.802 cirurgias traumato-ortopédicas realizadas nos hospitais HU/FURG e ACSCRG durante o ano de 2014. Em 11 cirurgias não foram encontrados os prontuários. Foram coletados, portanto, dados de 1.791 cirurgias, sendo 892 realizadas no HU/ FURG; e 899, na ACSCRG. Foram contabilizados 1.625 pacientes, sendo que 1.481 realizaram uma cirurgia; 125, duas cirurgias; 16, três cirurgias; e três, quatro cirurgias. Pacientes que realizaram três ou quatro cirurgias eram em sua maioria do sexo masculino (78,9%), procedentes principalmente de outras cidades da região de cobertura (57,9%) e apresentavam causas de lesão descritas como acidente de trânsito (52,9%).
Na Tabela 1, é apresentada a descrição da amostra total dos pacientes e cirurgias, estratificada por sexo. Os pacientes que realizaram cirurgia foram predominantemente do sexo masculino (57,7%; IC95% 55,3-60,1). A média de idade foi de 46,1 (DP = 22) anos e os indivíduos que mais realizaram cirurgias tinham entre 40 e 59 anos (33%). A grande maioria dos pacientes procedia de Rio Grande, (46,0%; IC95% 43,5-48,4) ou de outras cidades da região de cobertura (45,9%; IC95% 43,5-48,3).
Tabela 1 – Descrição das variáveis dos pacientes submetidos a cirurgias traumatoortopédicas em Rio Grande (n = 1.791). Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil – 2014
A região do corpo em que mais se realizou cirurgias foram os membros inferiores (60,6%; IC95% 58,3-62,8), já a lesão mais frequente foi a fratura (61,1%; IC95% 58,9-63,4). Além disso, 66,3% das lesões tiveram etiologia traumática, 37,8% das causas de lesão traumáticas não foram descritas nos prontuários dos pacientes e contabilizando apenas as causas traumáticas descritas (n = 738), 54,2% (IC95% 50,6-57,8) foram devido a quedas. Por fim, cirurgia mais realizada foi a osteossíntese (52,9%; IC95% 50,6-55,2) e a mediana do tempo de internação foi de três dias (Intervalo Interquartil [IQ] 2-7).
As cirurgias realizadas pelo SUS representaram 96,1% (IC95% 95,3-97,0) do total, sendo que no HU/FURG todas as cirurgias foram realizadas pelo SUS. Destaca-se que pacientes do sexo masculino com idade entre 18 e 39 anos apresentaram como causa traumática de lesão o acidente de trânsito em 56,8% dos casos (IC95% 49,664,0%), contabilizando somente os traumas descritos (n = 185). Na categoria “outras causas traumáticas”, mais de um quarto (25) foram devidos à violência, dos quais 84% acometeram indivíduos do sexo masculino, em que 52% desses casos apresentavam idade entre 18-39 anos.
Os indivíduos que realizaram cirurgias traumato-ortopédicas do sexo masculino tinham em sua maioria idade entre 18 e 60 anos. Entre os pacientes do sexo feminino, 46,7% (42,9%-50,4%) tinham idade acima de 60 anos, cuja principal causa traumática de lesão eram as quedas (76,9%; 71,8%-81,9%), excluindo as causas não descritas (n = 268). A lesão mais frequente em ambos os sexos foi a fratura, realizando cirurgias de artroplastias em 20,8% (IC95% 17,9-23,7) dos casos, ademais, as fraturas se apresentaram três vezes mais frequentes nas mulheres do que nos homens.
A Tabela 2 demonstra que os indivíduos que realizaram cirurgias traumatoortopédicas com idade entre zero e 17 anos eram em sua maioria do sexo masculino (67,7%; IC95% 61,0-74,4); apresentavam lesões em membros superiores (58,2%; IC95% 51,4-64,9); e lesões traumáticas, excluindo as não descritas (n = 89), causadas principalmente por quedas (57,3%; IC95% 50,2-71,8). Os (76,9%) pacientes com idade entre 18 e 39 anos (IC95% 72,981,0) eram (60,4%) do sexo masculino; (IC95% 56,0-64,8) apresentavam lesões em membros inferiores (57,4%) (IC95% 51,0-63,8) das causas traumáticas, excluindo as não descritas (n = 230), eram por acidentes de trânsito. Os (61,3%) pacientes com idade entre 40 e 59 anos, (IC95% 57,2-65,4) eram do sexo masculino; 24,4% (IC95% 20,9-27,9) apresentaram lesão na coluna; 42,2% (IC95% 38,2-46,2) tiveram causas não traumáticas; e essa categoria de idade apresentou maior índice de hérnia discal/DDC (16,9%; IC95% 13,9-20,0); e de artrodese (21,4%; IC95% 18,0-24,7).
Já os indivíduos com sessenta anos ou mais foram 67,9% (IC95% 63,6-72,1) do sexo feminino; 78,9% (IC95% 75,3-82,5) apresentaram lesão em membros inferiores; 89,6% (IC95% 85,5-93,8) das lesões traumáticas, excluindo as não descritas (n = 212), tiveram como causa as quedas; e 35,1% (IC95% 30,9-39,3) apresentaram cirurgias de artroplastia, maior número em relação às outras idades. Foi verificado que quanto maior a idade maior tempo de internação.
Tabela 2 – Descrição das variáveis de acordo com a idade dos pacientes submetidos a cirurgias traumato-ortopédicas em Rio Grande (n=1.791). Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil – 2014
Tabela 2 – Descrição das variáveis de acordo com a idade dos pacientes submetidos a cirurgias traumato-ortopédicas em Rio Grande (n=1.791). Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil – 2014
(conclusão)
Fonte: Elaboração própria.
*Valor p para heterogeneidade do teste qui-quadrado
**Valor p do teste exato de Fisher
Doença Degenerativa da Coluna
Destaca-se que indivíduos procedentes de municípios de fora da região de cobertura, 35,6% (IC95% 27,3-43,9) tinham idade de sessenta ou mais anos; apresentaram maior causa de lesões não traumáticas, 47,9% (IC95% 40,1-55,6); e menor número de fraturas do que os de Rio Grande e outros municípios da região.
46,6% (IC95% 38,9-54,4); apresentaram o dobro de lesões na região da coluna em relação aos de Rio Grande (21,5%; IC95% 15,1-27,8) e apresentaram o maior percentual de hérnia de disco/DDC (12,9%; IC95% 8,7%-18,1%); realizando mais cirurgias de artrodese, (17,1%; IC95% 11,3-23,0); e, por fim, permanecendo em 50,9% (IC95% 43,2-58,7) internados sete ou mais dias.
A maioria dos pacientes do SUS era procedente de outras cidades da região de cobertura (51,3%; IC95% 47,7-55,0) e apresentou maior frequência de acidentes de trânsito (41,8%; IC95%: 36,6-47,0) do que os pacientes de convênios e atendimentos particulares, considerando apenas as causas traumática e descritas(n = 354). Além disso, permaneceram mais tempo internados, 50,7% (IC95% 47,3-54,1) ficando sete ou mais dias em internação. Já os pacientes de convênios e atendimentos particulares eram predominantes de Rio Grande (79,7%; IC95% 69,6%-89,8); apresentando maior proporção de causa traumática, excluindo as não descritas (n=35), as quedas (51,4%; IC95%:34,0-68,8); e 36,2% (IC95% 24,6-47,9) ficando dois ou menos dias internados.
O objetivo deste artigo foi descrever o perfil dos pacientes submetidos às cirurgias traumato-ortopédicas. Este trabalho apresentou que os pacientes analisados eram em sua maioria
do sexo masculino (57,7%) com média de idade de 46,1 anos. As principais características das cirurgias traumato-ortopédicas mostraram que 60,6% dessas intervenções foram realizadas nos membros inferiores, em que a lesão mais frequente foi a fratura (61,1%) e a mediana do tempo de internação foi de três dias.
A maior proporção de pacientes do sexo masculino está de acordo com a literatura. Estudos realizados em diversas regiões do Brasil, com diferentes métodos encontraram proporções de indivíduos do sexo masculino variando entre 59,7% e 89,6%3,5-7,14. Em estudo realizado na Inglaterra, 51% eram do sexo masculino6, porém quase metade da amostra do estudo apresentava idade acima dos sessenta anos. Esse predomínio de indivíduos do sexo masculino se inverte a partir dos sessenta anos, em que as mulheres são maioria, resultado semelhante ao encontrado em um estudo com pacientes atendidos na unidade de emergência em Fortaleza (CE)7, e em um estudo avaliando fraturas realizado no País de Gales e Inglaterra, cuja inversão ocorreu a partir dos cinquenta anos15. Isso pode estar relacionado ao fato de as mulheres apresentarem a partir da menopausa maior prevalência de osteoporose, e, consequentemente, de fratura16
Em um estudo realizado em Pelotas (RS), 83,3% das fraturas ocasionadas em idosos foram causadas devido à queda16. Em pacientes que realizaram tratamento cirúrgico na extremidade proximal do fêmur, 94,4% das causas foram as quedas, com predominância de 74,7% para sexo feminino, bem como maior frequência no inverno (29%)17, resultados que estão conforme os encontrados neste artigo.
Pesquisas realizadas com crianças e adolescentes atendidas em unidades de ortopedia encontraram maior proporção de indivíduos do sexo masculino, 54% e 72,5%, apresentando lesões em membros superiores em 76,8%; cuja principal causa da lesão foram as quedas 54,6% e 67,6%18-19. Resultados semelhantes aos encontrados neste estudo (57,3%), reiterando os achados deste artigo.
Em um estudo realizado com pacientes vítimas de acidentes de trânsito, encontrou-se média de idade de 35,3 anos (DP 14,9); 82,2% tinham idade entre 18 e 59 anos; e 78,2% eram do sexo masculino20. Esses números reforçam que jovens adultos do sexo masculino apresentam como principal causa de lesões os acidentes de trânsito.
Pacientes abaixo de 18 anos realizaram mais cirurgias no HU/FURG, pois este hospital é referência em traumato-ortopedia pediátrica. O HU/FURG apresentou mais casos de cirurgias de membros superiores, uma vez que os pacientes que apresentaram frequência neste tipo de lesão eram os menores de 18 anos. Já a ACSCRG apresentou mais casos de cirurgia de coluna, já que conta com um serviço de neurocirurgia, cirurgias de hérnia de disco, fraturas da coluna e doenças degenerativas da coluna.
Em um estudo realizado em Santos14, encontrou-se a média do tempo de internação de 7,5 dias. Neste artigo a média identificada foi de 5,8 dias (mediana = três dias). Em comparação entre os hospitais avaliados no presente estudo o tempo de internação foi maior na ACSCRG podendo ser devido ao fato de apresentarem mais pacientes vítimas de acidentes de trânsito, fator causal de lesões mais graves, além das traumato-ortopédicas. Portanto, podem necessitar de mais de uma cirurgia. Outro destaque é que a ACSCRG atende mais pacientes idosos - normalmente apresentam tempo de recuperação longo, enquanto que o HU/FURG atende mais pacientes menores de 18 anos cuja recuperação é mais rápida.
Não foram encontrados na literatura estudos que descrevessem as características dos pacientes e das cirurgias traumato-ortopédicas em hospitais tidos como centros de referência. Normalmente, os estudos se detêm a algum tipo de lesão ou região anatômica específica4 Por se tratar de um censo com todos os pacientes submetidos a cirurgias traumato-ortopédicas em dois hospitais centro de referência estadual de média e alta complexidade durante um ano, este estudo traz uma contribuição nova e original sobre as características destes pacientes e das cirurgias.
De todas as cirurgias realizadas no hospital, excluindo-se aquelas cuja causa traumática não estava descrita, 32,1% (431) tiveram como ocasionadores que poderiam ser evitados, tal como acidentes de trânsito e quedas de idosos. Nesta abordagem não foram contabilizadas lesões secundárias originadas a partir desta causa. É demonstrada, portanto, a necessidade de programas para a prevenção de lesões originadas por esses motivos, uma vez contribuiria para a redução de gastos com esses pacientes. Além de proporcionar maior capacidade para atenção hospitalar em lesões cujas causas são inevitáveis.
Um limitador deste estudo é que, por se tratar de uma pesquisa com dados secundários, está sujeito a falhas referentes à qualidade do preenchimento dos prontuários, visto que as informações contidas nos prontuários foram preenchidas por outras pessoas. Alguns prontuários não continham todas as informações das variáveis de interesse (principalmente a causa das lesões traumáticas), impossibilitando a coleta de outras informações que não as que constavam no prontuário do paciente. Outra limitação é o fato de esta pesquisa abordar uma população específica de pacientes submetidos a cirurgias traumato-ortopédicas.
As informações contidas neste estudo podem contribuir para melhor conhecimento do tipo de serviço prestado, auxiliando na gestão, no planejamento e no direcionamento de políticas públicas. O conhecimento melhor sobre as causas que levaram a essas cirurgias, e os tratamentos cirúrgicos realizados, possibilita um melhor planejamento e assistência para esses pacientes 5. Além disso, esses dados podem ser úteis para profissionais
que trabalham no setor de ortopedia e traumatologia, especialmente nos referidos centros de referência e demais unidades de saúde, visando melhor organização e planejamento do atendimento a esses pacientes. Também incentiva a conscientização à prevenção das causas de trauma nas populações mais suscetíveis. Acredita-se que os resultados obtidos possam ser extrapolados para regiões semelhantes à área de cobertura desses hospitais no extremo sul do Brasil.
Sugere-se a realização de novos estudos em outros hospitais centro de referência em traumato-ortopedia, englobando todas as cirurgias realizadas por esta especialidade. Desse modo, será possível comparar o perfil dos pacientes provenientes de diferentes regiões do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil. O estudo verificou ainda que os hospitais deveriam divulgar entre seus funcionários a importância do preenchimento completo e legível dos prontuários dos pacientes, visto que as informações ali contidas servem para saber o histórico de doenças e lesões dos pacientes, o que pode garantir um atendimento mais rápido e qualificado, além de esses dados poderem ser usados em pesquisas.
1. Concepção do projeto, análise e interpretação dos dados: Ewerton Cousin e Samuel Carvalho Dumith.
2. Redação do artigo e revisão crítica relevante do conteúdo intelectual: Ewerton Cousin e Samuel Carvalho Dumith.
3. Revisão e/ou aprovação final da versão a ser publicada: Ewerton Cousin e Samuel Carvalho Dumith.
4. Ser responsável por todos os aspectos do trabalho na garantia da exatidão e integridade de qualquer parte da obra: Ewerton Cousin e Samuel Carvalho Dumith.
1. Colby LA, Kisner C. Exercícios terapêuticos: fundamentos e técnicas. Barueri (SP): Manole; 2005.
2. Hebert S, Barros Filho TEP, Xavier R, Junior AGP. Ortopedia e traumatologia: princípios e prática. São Paulo (SP): Artmed; 2003.
3. Castro RRM, Ribeiro NF, Andrade AM, Jaques BD. Perfil dos pacientes da enfermaria de ortopedia de um hospital público de Salvador-Bahia. Acta Ortop Bras. 2013;21(4):191-4.
4. Taylor A, Young A. Epidemiology of orthopaedic trauma admissions over one year in a district general hospital in England. Open Orthop J. 2015;9:191-3.
5. Albuquerque ALM, Sousa Filho PGT, Braga Junior MB, Cavalcante JSN, Medeiros BBL, Lopes MBG. Epidemiologia das fraturas em pacientes do interior do Ceará tratadas pelo SUS. Acta Ortop Bras. 2012;20(2):66-9.
6. Belon AP, Silveira NYJ, Barros MBA, Baldo C, Silva MMA. Atendimentos de emergência a vítimas de violências e acidentes: diferenças no perfil epidemiológico entre o setor público e o privado. Ciênc Saúde Coletiva. 2012;17(9):2279-90.
7. Braga Júnior MB, Chagas Neto FA, Porto MA, Barroso TA, Lima ACM, Silva SM, et al. Epidemiologia e grau de satisfação do paciente vítima de trauma músculo-esquelético atendido em hospital de emergência da rede pública brasileira. Acta Ortop Bras. 2005;13(3):137-40.
8. Reichenheim ME, Souza E, Moraes C, Jorge M, Silva C, Minayo MS. Violência e lesões no Brasil: efeitos, avanços alcançados e desafios futuros. Lancet. 2011;6736(11):75-89.
9. Brasil. Ministério da Saúde. Datasus. Informações de Saúde: Epidemiológicas e morbidades por causas externas [Internet]. 2015 [citado em 2015 out 10]. Disponível em: http://tabnet.datasus.gov.br
10. AbouZahr, C, Adjei, S, Kanchanachitra, C. From data to policy: good practices and cautionary tales. Lancet. 2007;369(9566):1039-46.
11. Bonita R, Beaglehole R, Kjellstrom T. Epidemiologia básica. São Paulo (SP): Santos; 2010.
12. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo demográfico 2010 [Internet]. 2010 [citado em 2022 jun 10:]. Disponível em: https://censo2010. ibge.gov.br/resultados.html
13. Estado do Rio Grande do Sul. Referências da atenção secundária e terciária das redes de atenção no RS 2014.
14. Mulero FE. Perfil epidemiológico dos pacientes vítimas de trauma internados no setor de ortopedia e traumatologia da Santa Casa de Santos no ano de 2007. Santos (SP). Dissertação [Mestrado em Saúde Coletiva] – Universidade Católica de Santos; 2010.
15. Van Staa T, Dennison E, Leufkens H, Cooper C. Epidemiology of fractures in England and Wales. Bone. 2001;29(6):517-22.
16. Siqueira FV, Facchini LA, Hallal PC. The burden of fractures in Brazil: a population-based study. Bone. 2005;37(2):261-6.
17. Arliani GG, Astur DC, Nascimento CLS, Blumetti FC, Fonseca MJA, Dobashi ET, et al. Correlação entre os índices de necrose e a estabilização precoce nas fraturas da extremidade proximal do fêmur na infância. Rev Bras Ortop. 2010;45(4):426-32.
18. Guarniero R, Godoy Junior RM, Ambrosini EJ, Guarniero JRB, Martins GB, Santana PJ, et al. Estudo observacional comparativo de fraturas em crianças e adolescentes. Rev Bras Ortop. 2011;46(4):32-7.
19. Lino Junior W, Segal AB, Carvalho DE, Fregoneze M, Santili C. Análise estatística do trauma ortopédico infanto-juvenil do pronto socorro de ortopedia de uma metrópole tropical. Acta Ortop Bras. 2005;13(4):179-82.
20. Trevisol DJ, Bohm RL, Vinholes DB. Perfil epidemiológico dos pacientes vítimas de acidentes de trânsito atendidos no serviço de emergência do Hospital Nossa Senhora da Conceição em Tubarão, Santa Catarina. Sci Med. 2012;22(3).
Recebido: 27.5.2019. Aprovado: 24.5.2022.
Kellen Cristina da Silva Gasquea
https://orcid.org/0000-0003-2015-2717
Kleber Tsunematsu Hatta Júniorb
Pamela Couto Guimarães Costac
https://orcid.org/0000-0002-3977-9299
Denismar Alves Nogueirad
https://orcid.org/0000-0003-2285-8764
Resumo
O Amazonas é o maior estado brasileiro em extensão territorial, com uma parcela significativa da população vivendo em torno dos rios, as chamadas comunidades ribeirinhas. O acesso aos serviços de saúde por essas comunidades é limitado, levando à criação de projetos de saúde pública para prevenção e tratamento de doenças, assim como ações de educação em saúde. Diversas organizações não governamentais (ONG) e equipes de saúde atuam nessas comunidades com projetos de educação em saúde. Neste artigo, verificou-se a percepção dos pais sobre a saúde bucal de seus filhos e a importância dos cuidados da dentição decídua para prevenção da cárie dentária. Para isso, foram entrevistados trezentos pais ou responsáveis por crianças de zero a sete anos em comunidades ribeirinhas localizadas em três municípios do Amazonas (Parintins, Nhamundá e Barreirinha – N = 300, cem em cada município). A partir das entrevistas, pode-se concluir que as mães foram as principais respondentes (80%), cuja renda familiar é de até um salá-
a Doutora em Ciências da Saúde. Professora e Pesquisadora em Saúde Pública/Coordenadora do Polo DF do Mestrado ProfSaúde na Gerência Regional de Brasília da Fundação Oswaldo Cruz. Brasília, Distrito Federal, Brasil. E-mail: kellen.gasque@fiocruz.br
b Cirurgião-Dentista. Manaus, Amazonas, Brasil. E-mail: klebertsunematsu@gmail.com
c Mestranda em Ciências e Engenharia de Materiais pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, Paraná, Brasil. E-mail: pamelashinnoda@hotmail.com
d Doutor em Estatística e Experimentação Agropecuária. Professor de Estatística na Universidade Federal de Alfenas. Alfenas, Minas Gerais, Brasil. E-mail: denisnog@yahoo.com.br
Endereço para correspondência: Gerência Regional de Brasília. Fundação Oswaldo Cruz. Avenida L3 Norte, s/n, Campus Universitário Darcy Ribeiro, Gleba A. Brasília, Distrito Federal, Brasil. CEP 70904-130. E-mail: kellen.gasque@fiocruz.br
rio mínimo (91%). Além disso, a maioria tinha conhecimentos sobre cárie dentária (56%), bem como já recebeu alguma orientação sobre como escovar os dentes (41%). Todas as crianças possuem escova de dentes e 94% delas utilizam dentifrício na escovação. Por fim, os pais foram considerados os principais responsáveis pela escovação dentária supervisionada de seus filhos (87%), embora apenas 44% deles a realize. Portanto, neste artigo, demonstra-se a efetividade das ações e dos projetos aplicados em comunidades ribeirinhas em relação à cárie dentária, ainda que exista a necessidade da continuidade dessas ações para mudanças efetivas de hábitos, impactando positivamente a saúde bucal das crianças ribeirinhas do Amazonas.
Palavras-chave: Cárie dentária. Populações ribeirinhas. Percepção de saúde. Escolares.
KNOWLEDGE ABOUT DENTAL CARIES AMONG RIBEIRINHOS: RESULT OF ORAL HEALTH EDUCATION
Abstract
Amazonas is the largest Brazilian state in land area, with a significant portion of its population living near rivers, the so-called ribeirinhos. Since access to health care services by these communities is limited, specific public health actions and projects for health prevention, treatment and education are created. Several non-governmental organizations (NGOs) and health care teams work on health education projects on these communities. Given this context, this study investigated how parents perceived their children’s oral health and the importance of deciduous dentition care for preventing dental caries. Data was collected by a questionnaire applied to 300 parents or guardians of children aged 0 to 7 years from three municipalities of Amazonas (Parintins, Nhamundá and Barreirinhas – 100 each). Mothers (80%) and homes living with a family income of up to 1 minimum wage (91%) comprised most of the sample. Most parents had knowledge about dental caries (56%) and had received some guidance on how to brush their children’s teeth (41%). All children have a toothbrush and 94% of them use toothpaste. Finally, parents consider themselves the main responsible for supervised brushing (87%), although only 44% of them perform it. In conclusion, these findings attest to the effectiveness of actions and projects carried out in ribeirinho communities regarding dental caries, although continued actions are needed to change habits and positively impact the oral health of ribeirinho children living in Amazonas.
Keywords: Dental cavity. Riverine populations. Health perception. Schoolchildren.
Amazonas es el estado brasileño más grande en extensión territorial, con una porción significativa de la población que vive alrededor de los ríos, las llamadas comunidades ribereñas. El acceso a los servicios de salud por parte de estas comunidades es limitado, lo que lleva a la creación de acciones y proyectos de salud pública para la prevención y el tratamiento de enfermedades, así como acciones de la educación en salud. Son varias las ONG que trabajan en estas comunidades con proyectos de educación en salud. En este artículo se evaluó la percepción de los padres sobre la salud bucal de sus hijos y la importancia de cuidar la dentición primaria en la prevención de la caries dental. Para ello, se entrevistaron a los padres o tutores de niños de 0 a 7 años, en las comunidades ribereñas de tres municipios de Amazonas (Parintins, Nhamundá y Barreirinhas – N = 300, cien en cada municipio). Los resultados muestran que la madre fue la principal respondiente de la entrevista (80%), con un ingreso familiar de hasta 1 salario mínimo brasileño (91%). La mayoría tiene conocimiento sobre la caries dental (56%) y ya había recibido alguna orientación sobre cómo cepillarse los dientes (41%). Todos los niños tienen un cepillo de dientes, y el 94% de ellos usa pasta de dientes. Los padres se consideran los principales responsables del cepillado supervisado de sus hijos (87%), aunque solo el 44% de ellos lo realizan en sus hijos. Este artículo demuestra la efectividad de las acciones y proyectos llevados a cabo en comunidades ribereñas con respecto a la caries dental, pero es necesario continuar con estas acciones para que tengamos cambios en los hábitos e impactos positivos en la salud bucal de los niños que viven en las comunidades ribereñas del Amazonas.
Palabras clave: Cavidad dental. Poblaciones ribereñas. Percepción de salud. Niños de escuela.
O Amazonas, conforme Little1, é o maior estado brasileiro em extensão territorial, possuindo uma parcela significativa da população vivendo em torno dos rios, as chamadas comunidades ribeirinhas. O acesso aos serviços de saúde por essas comunidades é limitado, levando à criação de ações e projetos de saúde pública para prevenção e tratamento de doenças, assim como ações de educação em saúde. Além disso, para Pucciarelli2, a atenção à saúde está centralizada sobretudo nas zonas urbanas dos municípios, ainda que haja ações esporádicas
nas comunidades ribeirinhas. O acesso à zona urbana se torna difícil por questões financeiras, pela distância entre essas regiões e pela logística, ocorrendo por via fluvial e podendo durar vários dias. Mota et al.3 apontam que as populações ribeirinhas, em geral, apresentam reduzida infraestrutura de saneamento básico, energia elétrica e serviços de saúde. Em locais com poucos habitantes e pouca infraestrutura de serviços, é difícil garantir a equidade e a integralidade do acesso à saúde e a equidade do serviço. De acordo com Silva et al.4 existem as equipes de saúde fluvial que buscam atender as comunidades de regiões remotas, com educação em saúde bucal e tratamentos curativos e preventivos. Além disso, diversas ONG atuam nas regiões ribeirinhas, promovendo a educação em saúde bucal.
Contudo, dois fatores continuam limitando o acesso a esses serviços. Primeiro, o fato de que essas equipes não são suficientes para atender a totalidade dos moradores; segundo, os atendimentos são esporádicos e restritos, não assegurando a universalidade do direito à saúde, garantido a todos os brasileiros pela Constituição, conforme apontam Pereira et al.5. Em alguns lugares não há postos de saúde e, quando ficam doentes, os ribeirinhos utilizamse de plantas medicinais ou outros remédios para tratamento, sem que haja acompanhamento médico na maioria dos casos, conforme apontam Cardel et al.6
Segundo Sousa et al.7, em lugares onde a população apresenta vulnerabilidade social e econômica, há geralmente a prevalência de doenças preveníveis, como é o caso da cárie dentária. A cárie, conforme Kazeminia et al.8, apresenta uma das condições mais prevalentes no mundo quando a temática se direciona à saúde bucal. A prevenção das cáries e a promoção da saúde bucal são temas centrais na odontologia, apresentando ações voltadas para educação das crianças, gestantes, pais, gestores e profissionais de saúde, já que a educação em saúde é um dos métodos de melhor custo-benefício na prevenção da cárie e de outras doenças bucais, como indica o estudo de Fraihat et al.9
A cárie é uma doença infecciosa, não transmissível, açúcar dependente e de caráter biossocial. Em uma amostra mundial de quase 1,5 milhão de crianças, a prevalência da cárie na dentição decídua foi de 46,2% e na permanente foi de 53,8%, segundo dados de Kazeminia et al.8. Embora o estudo de Bönecker et al.10 indique que no Brasil houve uma redução na prevalência da cárie dentária nas últimas décadas, ainda existem áreas endêmicas, cuja prevalência é alta, conforme apontam estudos de Gomes et al.11 e Lemos et al.12
Segundo Bönecker et al.10, a cárie na dentição decídua é o principal preditor para a cárie na dentição permanente, além disso, é imprescindível que os pais realizem a escovação supervisionada das crianças até o desenvolvimento autônomo da motricidade para a própria escovação. Portanto, tal como apresentam Silva Neto et al.13 e Bento et al.14, é importante
o envolvimento familiar em questões relacionadas à saúde bucal das crianças, bem como o desenvolvimento de ações educativas referentes à saúde bucal.
A avaliação da percepção dos pais ou responsáveis sobre os cuidados com a saúde bucal de seus filhos, ainda na primeira infância, é importante, pois eles são os principais agentes de transformação dos hábitos bucais desenvolvidos por seus filhos na infância. Logo, o objetivo deste artigo foi avaliar o conhecimento e os cuidados com a saúde bucal de crianças ribeirinhas de zero a sete e anos no estado do Amazonas.
Este estudo seguiu as diretrizes propostas no checklist Strobe (Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology) para os estudos observacionais15.
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Fundação Alfredo da Matta – Fuam – sob Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) de número: 67336217.6.0000.0002. Os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foram disponibilizados e aos que informaram dificuldades de leitura ou analfabetismo os termos foram lidos pelos pesquisadores. Para assinatura, foram disponibilizados tinteiros com almofadas para colher as digitais daqueles que não soubessem assinar.
Este estudo foi desenvolvido em três comunidades ribeirinhas do estado brasileiro do Amazonas: Parintins, Barreirinha e Nhamundá.
Parintins é a segunda cidade mais populosa do estado, cuja densidade demográfica equivale a 17,14 hab/km² e possui estimativa de 116.439 habitantes para 2021. A cidade localiza-se no extremo leste do estado, distando 372 quilômetros da capital Manaus. Sua área é de 5 956 047 km², possui 10,2% de urbanização das vias públicas; 19,3% de esgotamento sanitário e taxa de mortalidade infantil de 23,11 óbitos a cada mil nascidos, conforme os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2019).
Barreirinha pertence à mesorregião do Centro Amazonense e à microrregião de Parintins, localizada a leste da capital do estado. Sua estimativa é de 32.919 habitantes para 2021, possuindo 3047050 km² de extensão territorial e 4,76 hab/km² de densidade demográfica. Possui urbanização das vias públicas em 4,7%, esgotamento sanitário adequado em 4,3% e taxa de mortalidade infantil de 17,5 óbitos a cada mil nascidos, conforme o censo de 2019.
Nhamundá também pertencente à mesorregião do Centro Amazonense e à microrregião de Parintins, localizada a leste da capital do estado, distando cerca de 375 quilômetros. Ocupa uma área territorial de 14.107.040 km², com população estimada em 21.710 habitantes para 2021 e densidade demográfica de 1,30 hab/km². Possui urbanização das vias públicas em 2,8%, esgotamento sanitário adequado em 16,1% e uma taxa de mortalidade infantil de 28,9 óbitos a cada mil nascidos, conforme o IBGE 2019.
O estudo foi descritivo, transversal e com uma amostragem por conveniência composta por trezentos pais ou responsáveis pelas crianças ribeirinhas de zero a sete anos de idade, sendo cem de cada município do estudo. As comunidades ribeirinhas desses municípios foram selecionadas por sorteio, entre aquelas cujas formas de acesso estivessem disponíveis. Assim, comunidades ribeirinhas foram excluídas por diversos fatores, sendo os principais: (1) inviabilidade de acesso às comunidades ribeirinhas; (2) dificuldades de acesso por motocicleta ou navegabilidade em virtude da vegetação aquática, que bloqueava os canais de lagos; (3) ausência dos moradores em algumas comunidades por conta dos êxodos em situações de inundação.
Ao chegar nas comunidades, por meio de agentes locais, foram identificados domicílios que possuíam participantes da pesquisa. Uma vez esgotada uma comunidade, partia-se para outra.
ABORDAGEM DOS PESQUISADORES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS
Optou-se por algumas estratégias para garantir a participação dos ribeirinhos nessa pesquisa, entre elas: (1) apoio dos líderes comunitários e religiosos; (2) apoio dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS); (3) divulgação do estudo em igrejas, reuniões de grupos e escolas;
(4) apoio de outros profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS) que atuam nessas comunidades.
Os questionários foram aplicados por dois graduandos do Centro Universitário do Norte (UniNorte), cuja calibração considerou o índice de Kappa, sendo 0,97 para K.T.H.Je 0,96 para P.C.G.C.
Os sujeitos foram entrevistados em domicílio, utilizando um questionário padronizado em quatro domínios: (1) Domínio 1: aspectos sociodemográficos dos indivíduos
ribeirinhos; (2) Domínio 2: conhecimento e atitudes sobre cárie dentária e autopercepção da saúde bucal; (3) Domínio 3: nível de cuidado com a saúde bucal; (4) Domínio 4: frequência de visita ao dentista relatada pelos pais ou cuidadores.
As análises estatísticas foram realizadas pelo programa Pacote Estatístico para as Ciências Sociais (SPSS) disponibilizado pelo Windows (Version 22; IBM Corp., Chicago, IL, USA), pelos testes estatísticos Qui-quadrado de Pearson, teste exato de Fisher e Mann-Whitney. Foram realizadas estatísticas descritivas, conforme as características de distribuição das variáveis, além de análises bivariadas para testar a associação entre os fatores sociodemográficos, os domínios do questionário de conhecimento e a percepção sobre saúde bucal e cárie dentária em crianças ribeirinhas, a partir da perspectiva dos pais ou cuidadores. O nível de significância utilizado nas decisões dos testes estatísticos foi de 5%.
A amostra foi constituída por trezentos pais ou responsáveis pelas crianças ribeirinhas, sendo cem de cada cidade do estudo. A maioria dos respondentes eram mulheres (n = 240; 80%), entre 18 e 45 anos (n = 266; 88,6%), com o ensino fundamental incompleto (n = 175; 58,3%) ou analfabetas (n = 107; 35,7%). A renda familiar mensal média era de um salário mínimo (n = 163; 54%). Houve predomínio de meninos (n = 163; 54,4%), escolares do ensino fundamental (n = 124; 41,3%). A distribuição da idade das crianças está apresentada na Tabela 1
Tabela 1 – Perfil sociodemográfico das crianças e cuidadores das comunidades ribeirinhas entrevistadas. Barreirinhas, Parintins e Nhamundá, Amazonas, Brasil – 2018
Sexo dos pais ou responsáveis
Idade dos pais ou responsáveis das crianças ribeirinhas (anos)
Tabela 1 – Perfil sociodemográfico das crianças e cuidadores das comunidades ribeirinhas entrevistadas. Barreirinhas, Parintins e Nhamundá, Amazonas, Brasil – 2018 (conclusão)
Dos trezentos participantes, 56% relataram conhecimento sobre cárie dentária. Além disso, conforme os relatos, em todas as casas havia escova de dentes, sendo que cada criança tinha sua própria escova. Dentifrícios eram utilizados durante a escovação dos dentes (n = 281; 94%), sendo que em 66% das casas eram utilizados dentifrícios indicados para adultos. Em apenas 28% das casas participantes, dentifrícios infantis eram utilizados. Em 69% dos casos,
a escovação dos dentes das crianças era realizada três vezes ao dia (n = 209; 70%) e em 51% (n = 155) dos casos, era a própria criança quem escovava seus dentes. Apesar disso, 87% dos pais relataram saber que a responsabilidade pela escovação dos dentes das crianças era deles.
O uso de fio dental pelas crianças representou 54% (n = 161) das casas e os enxaguantes bucais 25% (n = 75), conforme representado na Tabela 2
Tabela 2 – Perfil do cuidado com saúde das crianças ribeirinhas entrevistadas Barreirinhas, Parintins e Nhamundá, Amazonas, Brasil – 2018
Na escola, 55% das crianças realizavam escovação sem supervisão, enquanto 29% não escovavam os dentes no ambiente escolar. Houve registros de crianças que nunca visitaram o dentista (n = 96, 32%) e uma igual proporção de pais que relataram levar seus filhos duas vezes ao ano. Os pais relataram receber informações sobre a importância dos fluoretos na prevenção da cárie dentária (n = 201; 67%), bem como orientações sobre a escovação dos dentes das crianças (n = 124; 41%) (Tabela 3).
Tabela 3 – Perfil autorrelatado sobre os conhecimentos e atitudes sobre cárie dentária das comunidades ribeirinhas entrevistadas. Barreirinhas, Parintins e Nhamundá, Amazonas, Brasil – 2018
Ademais, 65% dos pais ou responsáveis relataram acreditar que a própria saúde bucal não influenciava na saúde bucal de seus filhos, embora reconhecessem a importância de cuidar da saúde bucal de suas crianças (n=106; 35%). Houve crianças que não tiveram experiências de dor de dentes (n = 201; 67%).
Com relação à autopercepção da saúde bucal dos pais, identificou-se que a experiência da dor de dente nos filhos foi associada à autopercepção da saúde bucal dos pais (p = 0.011). Além disso, a relação dor de dente com a visita ao dentista, mostrou-se estatisticamente significante, sobretudo quando a criança nunca visitou o dentista ou frequentava anual ou semestralmente (p < 0.001) (Figura 1)
Figura 1 – Relação entre a frequência de visitas ao dentista e a presença de dor de dentes. Barreirinhas, Parintins e Nhamundá, Amazonas, Brasil – 2018
Não houve uma associação estatisticamente significante entre a escolaridade dos pais e a presença de dor de dentes nos filhos. Da mesma forma, a renda familiar dos pais e a frequência da escovação dos dentes não interferiu na experiência de dor de dentes das crianças de maneira estatisticamente significante (p > 0,05).
As conclusões deste artigo sugerem que as condições sociais e econômicas das comunidades ribeirinhas podem exercer um papel sobre a saúde bucal e, consequentemente,
sobre a experiência de dor de dente das crianças residentes nas comunidades estudadas. Uma vez que fatores socioeconômicos e geográficos têm marcada influência nas oportunidades de acesso à informação e aos serviços de saúde, podem ser esperadas variações importantes nas características de saúde bucal entre populações rurais, urbanas e ribeirinhas16,17. Diversos estudos epidemiológicos em comunidades ribeirinhas relatam dificuldades semelhantes às observadas neste estudo: custos de deslocamento, manutenção da equipe de trabalho, acesso limitado pela sazonalidade dos rios, dispersão da população ao longo de rios e ausência de registros municipais necessários ao planejamento amostral da população17,18, reduzindo o poder de inferência dos dados obtidos a partir dos questionários estruturados.
As comunidades ribeirinhas das cidades pesquisadas foram homogêneas quanto ao perfil sociodemográfico. De acordo com os questionários, observamos o panorama de desigualdades presente nas comunidades ribeirinhas, cuja renda familiar média é de 980 reais, contrastando com a média per capta do estado do Amazonas, que é de 791 reais19. Esses resultados explicam o porquê de apesar de os PIB dos municípios em questão estarem em crescimento, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) permanecer abaixo da média de outros estados brasileiros.
O IDHM de 2010 para os estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul está entre 0,7 e 0,799, contrapondo-se ao do estado do Amazonas, que é de 0,6 a 0,699. Somente a cidade de Parintins apresenta IDHM semelhante ao do estado (0,656), enquanto Barreirinhas e Nhamundá apresentam valores inferiores (0,5 a 0,599)20. O índice médio de Gini, que traça um mapa de desigualdade e pobreza, está em 0,46, 0,40 e 0,39 para Parintins, Barreirinhas e Nhamundá, respectivamente. Esses valores estão abaixo do valor para o Amazonas (0,50). Parintins possui 68% de população vivendo na zona urbana. Para Barreirinhas, esse percentual é de apenas 45% e Nhamundá de 38%19. Uma possível análise das comunidades ribeirinhas retornaria valores ainda mais baixos que as médias dos municípios sem estratificação.
Outro ponto importante a se considerar é o fato de que os valores para uma determinada cidade não consideram as especificidades e desigualdades encontradas nos estratos urbanos, rurais e ribeirinhos. Por exemplo, a cidade de Parintins possui apenas 10,2% de urbanização das vias públicas, bastante inferior aos 26,3% de Manaus (AM) e 69,4% de Porto Alegre (RS), por exemplo. Esse contraste entre os dados das comunidades ribeirinhas e aqueles encontrados nas cidades do estado também foram observados em um estudo com ribeirinhos de Coari, que mostrou uma renda per capta dos ribeirinhos baixa, aproximadamente 30% do salário mínimo21.
O Índice de Desenvolvimento de Educação Básica (Ideb) para as cidades pesquisadas tem melhorado nos últimos anos, evoluindo de 2007 a 2017 de 4,2 para 5,8 para Parintins, de 3,7 para 4,6 para Barreirinha e de 3,9 para 5,8 para Nhamundá, considerando-se o quarto e o quinto ano do ensino fundamental22. Esses dados explicam os resultados encontrados na escolaridade dos pais participantes da pesquisa, em que a maioria relatou ter frequentado apenas o ensino fundamental (58%). O estado do Amazonas encontra-se na 12a posição com relação ao Ideb para as escolas públicas, explicando a parcela de responsáveis analfabetos encontrados neste artigo (36%).
A maioria dos estudos epidemiológicos sobre saúde bucal são conduzidos em populações urbanas e os resultados das cidades tem expandido para as áreas rurais ou ribeirinhas, quando se sabe da existência de suas peculiaridades23. Dessa forma, é importante que dados sejam produzidos nas comunidades ribeirinhas para que sejam planejadas estratégias de prevenção e tratamento odontológico específicos. No Brasil, a frequência de visita ao dentista é modulada pela renda e pela idade: jovens com alto poder aquisitivo frequentam mais o dentista, bem como têm maior chance de obter atendimento16. Nesse estudo, observou-se que 32% dos pais ou responsáveis nunca havia levado suas crianças ao dentista, sendo esse fator impactante na experiência da dor. Esses dados mostram as limitações de acesso aos serviços odontológicos enfrentados pelas comunidades ribeirinhas, uma vez que estudos semelhantes em outras comunidades, relatam dados inferiores a esses24,25.
Em estudo com comunidades ribeirinhas do Pará, 186 crianças de zero a seis anos foram avaliadas quanto à frequência da cárie dentária por meio do índice CEO-D médio, resultando em 5,3 para cinco anos de idade25, valor muito acima do encontrado para a região Norte, que é de 3,3726,27. Esses dados reforçam as peculiaridades encontradas nos dados com comunidades ribeirinhas.
A boa (43%) ou regular (27%) autopercepção sobre saúde bucal encontrada neste estudo é de extrema importância, pois o comportamento de cada paciente é condicionado por sua autopercepção, pela importância dada a ela, pelos seus valores culturais e pelas experiências vivenciadas no sistema de saúde28. Com relação à saúde bucal, há aspectos multidimensionais associados a condições físicas e subjetivas relacionadas à boca, cujas influências se dão por razões sociais, econômicas e psicológicas, explicadas, sobretudo, quando os pacientes são ouvidos e quando seus autodiagnósticos e suas opiniões são levados em consideração28,29
O problema da dor de dente é especialmente penoso para os ribeirinhos, pois a dificuldade no acesso aos serviços de saúde faz com que eles tenham que lidar com o problema sem o auxílio médico ideal. Uma parcela expressiva dos pais faz uso de medicação paliativa
(analgésicos, remédios ou plantas caseiras) nas experiências de dor de dente de seus filhos (22%), semelhante a estudos anteriores16. Em estudo com ribeirinhos de Maués (AM), observou-se que 17 problemas clínicos infantis eram tratados com mais de 37 plantas medicinais, sendo que o princípio ativo de muitas delas possuía embasamento científico30. Nesse mesmo estudo, 75% das mães eram analfabetas ou possuíam apenas o ensino fundamental, aspecto semelhante ao encontrado em nosso estudo.
Houve uma predominância de procura pela Unidade Básica de Saúde (UBS) nos casos de experiência de dor (44%), em vez da procura por um cirurgião dentista (31,5%). Entretanto, esse resultado pode ser devido a um equívoco na interpretação das alternativas do questionário. Talvez os pais possam ter associado a alternativa de resposta “cirurgião-dentista” ao atendimento pelo profissional em consultório particular e à alternativa “UBS ou postinho” ao profissional atendendo no serviço público. Contudo, há, junto a isso, a possibilidade da falta de conhecimento com relação às atribuições do cirurgião-dentista, uma vez que ainda existe um desconhecimento das atribuições dos médicos no serviço público. Apesar disso, 40% dos pais relataram levar seus filhos ao dentista de duas a três vezes por ano. Logo, é possível questionar se as respostas correspondem à realidade ou a uma resposta aceita socialmente, uma vez que estudos anteriores revelaram que para essas populações existem duas principais formas de acesso ao serviço de saúde: o deslocamento até a cidade mais próxima para atendimento em postos de saúde – cujo custo é elevado para o ribeirinho – ou o aguardo da chegada de barcos ou navios-hospitais das forças armadas, das secretarias de saúde ou de ONG, que prestam atendimento médico e odontológico esporádico16
Quando questionados sobre as informações acerca da cárie dentária, 56% dos pais e responsáveis responderam afirmativamente, evidenciando o trabalho de prevenção proporcionado pelo cirurgião-dentista em 41% dos casos. Afirmaram, ademais, que o dentista foi quem forneceu essas informações, como também orientou sobre a realização da escovação dentária. Por fim, 53% deles receberam informações sobre o papel dos fluoretos na prevenção da cárie dentária pelo dentista, já que no caso dos ribeirinhos seria focalizado no uso de dentifrício fluoretado (na idade adequada), uma vez que o acesso à água fluoretada não é viável, utilizando-se água de poços artesianos ou água do rio.
Com relação aos dentifrícios, informações otimistas foram obtidas. Em 66% dos questionários, os pais ou responsáveis responderam que utilizavam dentifrício de adulto na escovação dos dentes de seus filhos e 28% utilizavam dentifrício infantil. Esses dados são relevantes se considerarmos que a escovação dentária com dentifrício fluoretado é considerada um dos métodos mais eficientes na prevenção da cárie dentária, pois desorganiza o biofilme bacteriano e
expõe flúor na cavidade bucal de forma regular2,31. Com efeito, há um consenso de que não seja necessário utilizar dentifrício não fluoretado ou com baixas concentrações de fluoreto em crianças menores (dentifrícios infantis), uma vez que o diferencial deve ser a quantidade de dentifrício colocado na escova de dentes das crianças (do tamanho de um grão de arroz)32
Sabendo-se da importância no cuidado com a dentição decídua como medida preventiva de cáries dentárias na dentição permanente33,34, é relevante que em 97% dos casos os pais ou responsáveis relatem a importância de cuidar da dentição decídua dos filhos, reforçando o papel das atividades de prevenção realizadas pela equipe odontológica das Unidades Básicas de Saúde.
Os dados mostram que todas as crianças possuem suas próprias escovas de dentes, realizando a escovação de duas a três vezes ao dia (90%). Além disso, os pais assumiram a responsabilidade pela escovação das crianças (87%). Por fim, foi observado que no ambiente domiciliar, a maioria das crianças (52%) realizavam a escovação, realizadas de forma supervisionada pelos pais em 44% dos casos. Já no ambiente escolar, conforme o relato dos responsáveis, 52% das crianças realizam a escovação na escola.
Os dados obtidos nessa pesquisam reforçam a importância dos trabalhos de educação em saúde bucal realizados pelas equipes de Atenção Básica, pelos cirurgiões-dentistas das Unidades de Saúde Fluvial e pelas ONG atuantes nas regiões ribeirinhas do Amazonas. Embora os pais das crianças de até cinco anos tenham a consciência sobre a importância da dentição decídua, sua autopercepção em saúde bucal pode impactar os resultados em saúde bucal de seus filhos, exigindo que as medidas preventivas e educativas nessas comunidades sejam reforçadas.
1. Concepção do projeto, análise e interpretação dos dados: Kellen Cristina da Silva Gasque e Denismar Alves Nogueira.
2. Redação do artigo e revisão crítica relevante do conteúdo intelectual: Kellen Cristina da Silva Gasque, Pamela Couto Guimarães Costa e Kleber Tsunematsu Hatta Júnior.
3. Revisão e/ou aprovação final da versão a ser publicada: Kellen Cristina da Silva Gasque.
4. Ser responsável por todos os aspectos do trabalho na garantia da exatidão e integridade de qualquer parte da obra: Kellen Cristina da Silva Gasque e Kleber Tsunematsu Hatta Júnior.
1. Little P. Territórios sociais e povos tradicionais no Brasil: por uma antropologia da territorialidade. Anuário Antropológico. 2003;28(1):251-90.
2. Pucciarelli MLR. Estratégia Saúde da Família em áreas rurais ribeirinhas amazônicas: estudo de caso sobre a organização do trabalho em uma Unidade Básica de Saúde Fluvial de Manaus. Manaus (AM). Tese [Doutorado em Saúde Pública] – Fundação Oswaldo Cruz; 2018.
3. Mota JJP, Sousa CDSS, Silva AC. Saneamento básico e seu reflexo nas condições socioambientais da zona rural do baixo Munim (Maranhão). Rev Cam Geog. 2015; 16(54):140-60.
4. Silva MP, Lima AV, Pinheiro WS, Paz MCD, Dantas FM, Monteiro CEB. Assistência de enfermagem no contexto amazônico: vivências de acadêmicos em uma Unidade Básica de Saúde Fluvial. Braz J Health Rev. 2020;3(5):12169-77.
5. Pereira VS, Reis MHS, Portugal JKA, Campos GL, et al. Características da população ribeirinha de um município do interior do Amazonas. Rev Elet Acerv Saúde. 2021;13(11):1-6.
6. Cardel LMPS, Oliveira MAJ, Guedes MLS, Santana FA. O uso das plantas e o saber tradicional em três comunidades Ribeirinhas do Rio São Francisco. Revista Cadernos de Ciências Sociais da UFRPE. 2012;1(1):128-51.
7. Sousa AI, Pinheiro WR, Vilar MO. Prevalência de cárie dentária em crianças em condição de vulnerabilidade social/Prevalence of dental caries in children in condition of social vulnerability. Rev Psic. 2020;14(49):577-87.
8. Kazeminia M, Abdi A, Shamarina S, Rostam J, Aliakbar VR, et al. Dental caries in primary and permanent teeth in children’s worldwide, 1995 to 2019: a systematic review and meta-analysis. Head Face Med. 2020;16(1):1-21.
9. Fraihat N, Madae’en S, Bencze Z, Herczeg A, Varga O. Clinical effectiveness and cost-effectiveness of oral-health promotion in dental caries prevention among children: systematic review and meta-analysis. Int J Environ Res Public Heal. 2019;16(15)2668.
10. Bönecker M, Ardenghi TM, Oliveira LB, Sheiham A, Marcenes W. Trends in dental caries in 1- to 4-year-old children in a Brazilian city between 1997 and 2008. Int J Paediatr Dent. 2010; 20(2):125-31.
11. Gomes V, Ferreira RC, Morais MAS, Chalub LLFH, et al. Cárie dentária na América do Sul: realidade entre escolares do Brasil e Argentina. J Heal Biol Sci. 2019;7(2):152-58.
12. Lemos PN, Rodrigues DA, Frazão P, Coelho CC, et al. Cárie dentária em povos do Parque Indígena do Xingu, Brasil, 2007 e 2013. Epidemiol Serv Saúde. 2018;27(1):01-8.
13. Silva Neto APS, Souza NP. Avaliação do conhecimento de escolares e de seus pais sobre saúde bucal. e-RAC. 2018;7(1).
14. Bento AKM, Beserra MMN, Martins LFB, Silva CHF. Autopercepção de saúde bucal de pais de escolares. Encontro de Extensão, Docência e Iniciação Científica (EEDIC). 2019:5(1):1-3.
15. Knottnerus A. Tugwell P. STROBE — a checklist to Strengthen the Reporting of Observational Studies in Epidemiology. J Clin Epidemiol. 2008;61(4):323.
16. Martello RP, Junqueira TP, Leite ICG. Cárie dentária e fatores associados em crianças com três anos de idade cadastradas em Unidades de Saúde da Família do Município de Rondonópolis, Mato Grosso, Brasil. Epidemiol Serv Saúde. 2012;21(1):99-108.
17. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cidades e Estados [Internet]. 2010 [citado em 2019 nov 1]. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/ cidades-e-estados/am/.html?
18. Silva SRC, Rosell FL, Valsecki Jr A. Percepção das condições de saúde bucal por gestantes atendidas em uma unidade de saúde no município de Araraquara, São Paulo, Brasil. Rev Bras Saúde Matern Infant. 2006;6(4):405-10.
19. Brasil. Ministério da Saúde. SB Brasil 2010: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: resultados principais. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2012.
20. Arantes R, Frazão P. Cárie dentária entre os povos indígenas do Brasil: implicações para os programas de saúde bucal. Rev Tempus. 2013;7(4):169-80.
21. Gama ABS, Fernandes TG, Parente RCP, Secoli SR. Inquérito de saúde em comunidades ribeirinhas do Amazonas, Brasil. Cad Saúde Pública. 2018;34(2):1-16.
22. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Fundação João Pinheiro. Atlas do desenvolvimento humano no Brasil [Internet]. 2013 [citado em 2019 nov 1]. Disponível em: http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_uf/sao-paulo
23. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Ideb – resultados e metas [Internet]. 2020 [citado em 2019 nov 1]. Disponível em: http://ideb.inep.gov.br/resultado/
24. Maia CVR, Mendes FM, Normando D. The impact of oral health on quality of life of urban and riverine populations of the Amazon: a multilevel analysis. PLoS ONE. 2018;13(11):1-11.
25. Machry RV, Tuchtenhagen S, Agostini BA, Teixeira CRS, Piovesan C, Mendes FM, Ardenghi TM. Socioeconomic and psychosocial predictors of dental healthcare use among Brazilian preschool children. BMC Oral Health. 2013;13(60):2-6.
26. Mathur VP, Dhillon JK. Dental Caries: A Disease Which Needs Attention. Indian J Pediatr. 2018; 85(3):202-6.
27. Brasil. Ministério da Saúde. A saúde bucal no Sistema Único de Saúde. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2018.
28. Amaral RC, Carvalho DA, Brian A, Sakai GP. A relação entre a saúde bucal e a cárie dentária em oito comunidades ribeirinhas – Pará, Brasil. Rev Bras Odontol. 2017;74(1):18-22.
29. Vale EB, Mendes ACG, Moreira RS. Autopercepção da saúde bucal entre adultos na região Nordeste do Brasil. Rev Saúde Pública 2013;47(3):98-108.
30. Xavier A, Carvalho ES, Bastos RS, Caldana ML, Damiance PRM, Bastos JRM. Impact of dental caries on quality of life of adolescents according to access to oral health services: a cross sectional study. Braz. J Oral Sci. 2016;15(1):1-7.
31. Lima RFS, Turrini RNT, Silva LR, Melo LDS, Augusto SI. Popular healing practices and medical plants use for riparian mothers in early childhood care. Rev Fund Care Online. 2017;9(4):1154-63.
32. Chedid AJ, Cury JA. O uso de fluoretos em odontopediatria fundamentado em evidências. In: Coutinho L, Bonecker, M. Odontopediatria para pediatria. São Paulo (SP): Atheneu; 2013. p. 419-430.
33. Agnelli PB. Variação do índice CPOD do Brasil no período de 1980 a 2010. Bras Odontol. 2015;72(1):10-5.
34. Magalhaes AC, Moron BM, Comar LP, Buzalaf MAR. Uso racional dos dentifrícios. Rev Gaúch Odontol. 2011;59(4):615-25.
Recebido: 18.12.2019. Aprovado: 24.5.2022.
Andressa Wendlinga
https://orcid.org/0000-0002-0029-2504
Vilma Maria Arnoldb
https://orcid.org/0000-0002-0949-521X
Camila Sbeghenc
https://orcid.org/0000-0002-9953-789X
Jaqueline Michaelsen Macedod
https://orcid.org/0000-0002-7944-125X
Carmem Regina Giongoe
https://orcid.org/0000-0001-7335-8511
Resumo
Este trabalho tem como objetivo investigar a produção de material científico acerca das pessoas em situação de refúgio com as temáticas de saúde, trabalho e direitos humanos. Para isso, foi realizada uma revisão integrativa de artigos nacionais e internacionais que utilizaram a palavra “refugiados” nos últimos dez anos. Os critérios de inclusão foram: estudos publicados nos últimos dez anos, estudos sobre temas relacionados à saúde, física e mental, ao trabalho e aos direitos humanos de refugiados. Para a busca dos materiais, utilizou-se o descritor “refugiados” na Biblioteca Virtual em Saúde – Psicologia Brasil. Foram obtidos 82 artigos, destes, foram excluídos 38 materiais por estarem fora dos critérios de inclusão, permanecendo 44 artigos. A partir da análise do material encontrado, foram estabelecidas seis categorias quantitativas e duas qualitativas. Os materiais foram lidos na íntegra e divididos nas categorias competentes; os dados quantitativos foram analisados
a Psicóloga. Pós-graduada em Psicologia Social. Ivoti, Rio Grande do Sul, Brasil. Email: andressawendling@gmail.com
b Psicóloga. Sexóloga. Especialista em Terapia de Casal e Família. Ivoti, Rio Grande do Sul, Brasil. Email: arnold.vilma@yahoo.com.br
c Psicóloga. Pós-graduada em Psicanálise e Prática Clínica. Dois Irmãos, Rio Grande do Sul, Brasil. Email: sbeghencamila@gmail.com d Psicóloga com Ênfase em Processos Institucionais. Campo Bom, Rio Grande do Sul, Brasil. Email: jaquemimacedo@gmail.com e Doutora. Pós-doutorado em Psicologia Social e Institucional. Docente do Curso de Psicologia da Universidade Feevale. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Email: carmemgiongo@feevale.br Endereço para correspondência: Universidade Feevale. RS-239, n. 2755, Vila Nova. Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Brasil. CEP: 93525-075. E-mail: carmemgiongo@feevale.br
de maneira descritiva e os dados qualitativos passaram por análise temática. Os estudos abordavam temas sobre os direitos dos refugiados e o papel do Estado, no entanto, a discussão ainda está excessivamente centrada na esfera dos trâmites legais, não mostrando o protagonismo dos refugiados.
Palavras-chave: Refugiados. Migração humana. Refúgio.
REFUGEES: AN INTEGRATIVE REVIEW OF NATIONAL AND INTERNATIONAL LITERATURE
Abstract
This study investigates the scientific production about refugees that address health, labor, and human rights by means of an integrative review of national and international articles published in the last ten years with the word “refugees.” Inclusion criteria consisted of studies that have been published in the last ten years on topics related to refugees’ physical and mental health, labor, and human rights. A search was performed in the Virtual Health Library in Psychology (Brazil) database using the descriptor “refugees”. Of the 82 articles found, 38 were excluded for not fulfilling the inclusion criteria, thus 44 articles remained for analysis. Literature analysis established six quantitative and two qualitative categories. The articles were read in full and grouped into the corresponding categories; quantitative data were analyzed descriptively, and qualitative data underwent thematic analysis. The studies addressed topics such as the rights of refugees and the role of the State, but discussions remain excessively focused on legal procedures, sidelining the central role of refugees.
Keywords: Refugees. Human migration. Refuge.
UNA REVISIÓN INTEGRADORA DE LA LITERATURA NACIONAL E INTERNACIONAL
SOBRE REFUGIADOS
Este trabajo tiene como objetivo investigar la producción científica sobre personas en situación de refugio con los temas de salud, trabajo y derechos humanos. Para ello, se llevó a cabo una revisión integradora de artículos nacionales e internacionales que utilizaron la palabra “refugiados” en los últimos diez años. Los criterios de inclusión fueron: estudios publicados en los últimos diez años; estudios con temas relacionados con la salud
física y mental de los refugiados, el trabajo y los derechos humanos. Para la búsqueda de materiales se utilizó el descriptor “refugiados” en la Biblioteca Virtual en Salud –Psicología Brasil. Se obtuvieron 82 artículos, de estos, se excluyeron 38 materiales por estar fuera de los criterios de inclusión y quedaron 44 artículos. A partir del análisis del material encontrado se establecieron seis categorías cuantitativas y dos cualitativas. Los materiales se leyeron por completo y fueron divididos en las categorías competentes, los datos cuantitativos se analizaron de manera descriptiva y los datos cualitativos se analizaron temáticamente. Los estudios abordaron temas sobre los derechos de los refugiados y el papel del Estado, sin embargo, la discusión todavía está excesivamente centrada en los procedimientos legales, sin mostrar el protagonismo de los refugiados.
Palabras clave: Refugiados. Migración humana. Refugio.
Durante os últimos anos presenciou-se um aumento no número de deslocamentos de refugiados e migrantes em todo mundo. Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR)1, em 2017 foram 68,5 milhões de pessoas que tiveram que deixar seus países de origem. Somente no Brasil em 2017 foram 33.866 pessoas que solicitaram a condição de refugiado, mas apenas 10.145 foram reconhecidos2. Os venezuelanos representam mais da metade dos pedidos de refúgio (17.865), em segundo os cubanos, com 2.373 refugiados, depois os haitianos com 2.362 e, finalmente, os angolanos com 2.036 pedidos2
Com as crises econômicas vivenciadas em meados de 2007 nos Estados Unidos e na Europa, os imigrantes e refugiados passaram a procurar outros países para se abrigar, com isso o Brasil passou a se destacar na América Latina entre os mais procurados3. Nos últimos sete anos, o Brasil registrou 126.102 solicitações de reconhecimento da condição de refúgio4
A Lei nº 13.4455 traz um avanço aos migrantes e foi aprovada em 24 de maio de 2017. Mesmo que tenha sido alterada por vetos presidenciais, a lei contribui para o desenvolvimento dos processos de inclusão de imigrantes trabalhadores. Os principais norteadores da lei são o repúdio à xenofobia, a não criminalização da imigração, direitos e garantias, como o amplo acesso à justiça, integração social, saúde e educação.
Outro elemento importante nesse contexto é o acordo bilateral entre o Brasil e o Haiti mediado pela Organização das Nações Unidas (ONU). Nesse processo, o Brasil passou a ser atrativo aos haitianos e permitiu a inserção mais ágil no mercado de trabalho brasileiro3.
O Brasil, em dezembro de 2018, havia assinado o Pacto Global para Migração Segura, Ordenada e Regular, conhecido como Pacto Global de Migração da ONU, porém, com a mudança de governo em 8 de janeiro de 2019, o atual presidente decretou a saída do país do pacto6. No total, eram 193 países que participaram da negociação e apenas 164 assinaram o documento. O pacto traz questões importantes aos migrantes, como a proibição de deportação a migrantes irregulares. Além disso, também determina acesso aos migrantes à justiça, saúde, informação e educação. O documento tem ao todo 23 tópicos que visam à cooperação dos países em relação a imigrantes5.
Hoje o status de refugiado no Brasil é concedido pelo Comitê Nacional para Refugiados (Conare). Diante dessa demanda mundial, surgem algumas preocupações, além da necessidade de um olhar para essa população. A falta de preparo, tanto da esfera política quanto da sociedade civil para acolher essa população, vem exigindo esforços e mostrando cada vez mais a importância de estudos para auxiliar no reconhecimento e no amparo aos solicitantes de refúgio. Entre o início do processo de deslocamento e a adaptação no país de acolhimento, uma série de acontecimentos pode vir a dificultar a inserção social. O processo que envolve recomeçar a vida em um país cuja existência é muitas vezes ignorada, onde o preconceito e a xenofobia se mostram presentes, onde o aprendizado do idioma e a inserção no mercado de trabalho são desafiadores, além das dificuldades em relação à documentação podem afetar diretamente as condições de saúde e a garantia dos direitos humanos dessas populações 7 . Diante disso, o objetivo geral deste estudo foi investigar a produção de material científico acerca das pessoas em situação de refúgio com as temáticas de saúde, trabalho e direitos humanos, realizando uma revisão integrativa das produções acadêmicas nacionais e internacionais sobre a temática nos últimos dez anos (2008 a 2018). Espera-se que o panorama oferecido por este trabalho contribua para a visibilidade das pessoas em situação de refúgio, apontando para lacunas e possibilidades de futuras pesquisas e intervenções diante da temática.
A metodologia de pesquisa, baseada na revisão integrativa da literatura, consiste em uma técnica que reúne resultados de buscas em bases de dados científicas sobre um tema específico, seguindo a organização e sistematização das etapas de seleção e análise dos dados encontrados8,9. O método pode envolver uma pesquisa ampla ou limitada, possibilitando a inserção de diversas áreas do saber.
O método é organizado nas seguintes etapas: identificação do tema e questão da pesquisa; estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão; busca nas bases; definição das informações dos estudos selecionados; categorização dos estudos selecionados; e, finalmente, apresentação da revisão10
A partir desses pressupostos técnicos-científicos, primeiramente foram selecionadas as bases de pesquisa, sendo escolhida como fonte principal de busca a Biblioteca Virtual em Saúde Psicologia (BVS-Psi). O critério de escolha dessa plataforma ocorreu por ser considerada a mais abrangente entre as disponíveis até o momento e por agregar fontes consistentes de dados científicos. A BVS-Psi faz a indexação de teses, monografias, textos didáticos, Index Psi Livros, Lilacs (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), PePSIC (Periódicos Eletrônicos de Psicologia) e Scielo (Scientific Electronic Library Online), permitindo realizar serviços de comutação e consulta a catálogos de periódicos nacionais. Posteriormente, foram definidas as palavras-chave, combinadas pelo método booleano, o qual consiste na aplicação da combinação de um ou mais termos relacionados a combinações lógicas que refinam, restringem e detalham as buscas. O termo “or” é utilizado para ampliar as informações, para isso é necessário utilizar de palavras sinônimas ao tema da pesquisa 11 .
Os critérios de inclusão utilizados para a busca dos materiais foram: artigos publicados no período de 16 de abril de 2008 a 16 de abril de 2018; artigos sobre temáticas relacionadas à saúde, ao trabalho e aos direitos humanos de refugiados; independentemente do tipo de refúgio (guerra, conflito ou desastre ambiental). Como critério de exclusão foram utilizados os seguintes elementos: artigos repetidos entre as bases; artigos que estivessem fora do período estipulado (2008 a 2018); e estudos que não contemplavam as temáticas anteriormente citadas.
A busca dos artigos na BVS-Psi foi realizada por meio do descritor “refugiados” Na sequência foi acessada separadamente a fonte Scielo, e realizada uma primeira triagem considerando o período de publicação. Diante dos resultados obtidos nas buscas, foi realizada a leitura dos títulos, dos resumos e dos textos completos. Foram eliminados os materiais que estavam fora do período estipulado e que estavam repetidos entre as bases. No total das buscas foram identificados 82 trabalhos. Destes, três foram descartados por estarem repetidos entre as bases, vinte foram eliminados por tratarem de temáticas diferentes daquelas estipuladas, 15 foram excluídos por estarem fora do período definido para a análise, e 44 foram aproveitados.
Para a análise dos artigos selecionados, foi construído um protocolo contendo seis categorias quantitativas (ano da publicação, objetivo do estudo, instituição de origem, área de atuação, país do estudo, metodologia utilizada) e duas qualitativas (resultados e conclusões).
A partir disso, primeiramente, todos os materiais foram lidos na íntegra. Na sequência, foram organizados em uma planilha de Excel conforme protocolo construído; e, finalmente, os dados quantitativos foram analisados de maneira descritiva e os dados qualitativos passaram por análise temática. A análise temática foi realizada conforme os pressupostos teóricos definidos por Minayo12
Diante disso, os resultados obtidos serão apresentados em seis categorias quantitativas: (1) ano de publicação; (2) objetivo do estudo; (3) instituição de origem;
(4) área de atuação; (5) país do estudo; e (6) metodologia utilizada. E os resultados qualitativos extraídos das seções de resultados e conclusões serão apresentadas em dez categorias, sendo elas:
(1) relatos de projetos, programas e atendimentos a refugiados; (2) crise migratória, proteção estatal e fluxo migratório; (3) direitos, refúgio e proteção; (4) integração social, conflitos e inclusão; (5) saúde mental; (6) movimento social, práticas de resistência; (7) refúgio ambiental e mudanças climáticas; (8) formação dos profissionais para imigrantes e refugiados, políticas públicas; (9) questões de gênero; e (10) epidemiologia.
Com relação ao ano de publicação, observa-se que 2017 (10) e 2009 (5) se destacaram entre os demais, acumulando maior número de artigos. Estima-se que esses dados estão relacionados às crises financeiras e climáticas que marcaram esses períodos.
Nos anos anteriores a 2009 (2007 e 2008), como supramencionado, houve uma demanda grande de entrada na América Latina de imigrantes advindos dos Estados Unidos e do Japão, o que faz o interesse por esse movimento aumentar e necessitar de pesquisas para compreender a origem dessa situação. Já no ano de 2016, houve uma demanda de venezuelanos, se tornando a nacionalidade com maior número de pedidos de refúgio no Brasil13. O número de publicações por ano pode ser visualizado no Gráfico 1.
Com relação aos objetivos dos artigos selecionados podemos observar, conforme o Gráfico 2 , que a maioria dos materiais traz como principal temática questões relacionadas ao direitos, ao refúgio e à proteção (12), seguido de saúde mental (7), integração
social, conflitos e inclusão (7), crise migratória, proteção estatal e fluxo migratório (5), relatos de projetos, programas e atendimentos a refugiados (5), movimento social, práticas de resistência (2), refúgio ambiental e mudanças climáticas (2), formação dos profissionais para imigrantes e refugiados, políticas públicas (2), epidemiologia (1), e foi encontrado um artigo que tratava de questões de gênero (1). Percebe-se que os dois primeiros temas estão em evidência, possivelmente pelas demandas no processo de reconhecimento e documentação atreladas ao processo de refúgio. Esses resultados também apontam para a necessidade de novos estudos sobre temáticas relacionadas às questões de gênero, especialmente às vivências de mulheres e populações lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros (LGBTI).
Transmissão de doenças Questões de gênero
Fonte:
Entre as instituições que se destacam na publicação de temas pertinentes aos refugiados destaca-se a Universidade de São Paulo (USP) com quatro (4) artigos, seguida da Universidade Federal do ABC, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Universidade Federal Fluminense todas com duas (2) publicações. Todas as demais instituições contam com uma (1) publicação. Chama atenção que a maioria das publicações são brasileiras (26), seguidas de Portugal e França (2) e da Itália (1). Esses achados também
podem estar relacionados à base de dados utilizada, que possivelmente apresenta maior indexação de estudos nacionais.
Como se pode observar no Gráfico 3, que mostra a área de atuação de cada publicação, o direito se destacou, com 11 publicações sobre o tema. Seguido da psicologia com nove artigos publicados, relações internacionais e antropologia social, cada uma com cinco publicações. A área de ciência política contribuiu com três publicações e filosofia e ciências sociais apresentaram duas publicações. As demais áreas citadas apresentam uma publicação cada: artes e letras; ciências empresariais; teologia; direito internacional; saúde coletiva; geografia; departamento de saúde coletiva e ciências sociais.
Gráfico 3 – Publicações por cursos. Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Brasil – 2019
O país que se destaca nas publicações é o Brasil (38), seguido pela Itália (3) e Portugal (3), como se pode visualizar no Gráfico 4 . No ano de 2017, o Brasil recebeu 33.866 pedidos de refúgio. Especialmente a partir da crise econômica europeia, o país passou a se destacar no processo de acolhimento de refugiados na América Latina, possivelmente contribuindo para a expansão de estudos sobre o tema. Além disso, o Brasil possui o Conare que também auxilia nas questões de entrada e permanência no país. Com isso podemos compreender que o país possui uma maior demanda em pesquisa, para melhor compreensão desses assuntos.
Gráfico
Brasil Portugal
Fonte: Elaboração própria. Metodologia utilizada
Itália
O método que se destaca nos estudos encontrados é a revisão teórica (21), o que pode ser observado no Gráfico 5. Na sequência estão os estudos de campo que utilizaram metodologia qualitativa (10) e depois estudos de caso (7). Os demais métodos como análise quantitativa e revisão qualitativa seguem com três e quatro artigos, respectivamente.
Gráfico
Revisão teórica Análise qualitativa
Fonte: Elaboração própria.
Estudo de caso Análise quantitativa
Serão apresentadas neste eixo as categorias qualitativas criadas a partir da análise dos resultados e das conclusões dos estudos selecionados. Na categoria 1, intitulada “Relatos de projetos, programas e atendimentos a refugiados”6,14,15,16,17 e na categoria 2, nomeada “Crise migratória, proteção estatal e fluxo migratório”18,19,20,21,22, foram classificados cinco artigos cada. Na categoria 3, denominada “Direitos, refúgio e proteção”, foram classificados 12 artigos23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33. Na categoria 4 e na categoria 5, intituladas, respectivamente, “Integração social, conflitos e inclusão”34,35,36,37,38,39,40 e “Saúde mental”41,42,43,44,45,46,47, foram inseridos sete artigos cada. Nas categorias 6, 7 e 8, nomeadas, respectivamente, “Movimento social, práticas de resistência”48,49, “Refúgio ambiental e mudanças climáticas”50,51 e “Formação dos profissionais para imigrantes e refugiados, políticas públicas”52,53, foram classificados dois artigos em cada uma. Finalmente, nas categorias 9 e 10, denominadas “Questões de gênero”54 e “Epidemiologia”55, foram inseridos um artigo em cada. A seguir, será apresentada cada uma das categorias.
Os resultados apontados pelos projetos, programas e atendimentos a refugiados destacaram a necessidade de simplificação do processo de asilo, além de políticas de integração, acolhimento e garantia dos direitos humanos dessa população por parte do Estado e dos órgãos internacionais 14. Nesse contexto, ressalta-se o projeto de acordos envolvendo os “corredores humanitários” na Europa como possibilidade de emissão de vistos humanitários através da parceria entre o governo e as entidades civis 15. No mesmo sentido, discute-se a aplicação de vistos humanitários para haitianos no Brasil16, e também o modelo português para o acolhimento de refugiados, que, apesar da elevada cota disponibilizada para acolhimento, aponta para a morosidade no processo de distribuição dos refugiados nos abrigos do programa europeu. No entanto, os estudos enfatizam que “a generosidade invocada de vistos humanitários e de cotas restritivas não substitui o que deveria ser uma consistente política migratória” 16:1036. Dentre as iniciativas citadas como possibilidades de intervenção estão a criação de um Serviço de Atendimento Psicológico Especializado aos Imigrantes e Refugiados na Clínica de Psicologia do Departamento de Psicologia da Universidade Laval, em Québec, Canadá 6,17. Os dois estudos que citaram essa iniciativa concluíram que o serviço contribuiu com a formação de profissionais de saúde que atendem refugiados, bem como com o apoio à capacidade de adaptação e o desenvolvimento de novas habilidades dos pacientes atendidos17.
Crise migratória, proteção estatal e fluxo migratório
Os estudos que debatem essas temáticas relatam que o número de refugiados que saíram de seus países de origem à procura de proteção por questões de segurança vem aumentando consideravelmente, causando nos governos um sinal de alerta, pois sabe-se que muitos deles acabam sendo vítimas de racismo, intolerância e de xenofobia18. As autoras Rocha e Moreira22 apontam para a necessidade de uma revisão no sistema de proteção para os refugiados, bem como no regime que define determinados grupos como “refugiados”, afinal, o termo criado no pós-guerra parece não dar conta do cenário atual. Ainda reforçando a ideia de reformulação de propostas, a autora Viana21 apresenta questões acerca do deslocamento interno e forçado na Colômbia, pois, nessa situação, as soluções são recentes, mas os problemas são históricos e atrelados a questões políticas, sociais e econômicas do país. Rocha e Moreira 22 ainda alertam que mesmo que o ACNUR esteja à frente das questões cabíveis a pessoas em situação de realocação, os Estados têm a fundamental importância de dividir essa responsabilidade. Nesse sentido, as pesquisas reafirmam o papel protetivo do Estado, mas também trazem à tona várias questões sobre como os governos estão lidando com a chegada dos migrantes, afinal, muitos governos acabam criando programas, que nem sempre são adequados ou eficazes na prática. Além disso, os autores alertam para o fato de que os governos acabam divulgando dados de maneira conveniente para si próprios, livrando-se de suas obrigações e dando aos migrantes e refugiados a responsabilidade pelo problema 19. Outra questão levantada pelos autores foi que as barreiras restritivas enfrentadas pelos refugiados estão cada vez maiores, quando, na verdade, o correto seria possibilitar que os estados ampliassem suas responsabilidades de proteção e assistência aos refugiados 20 .
Quanto à temática dos direitos dos refugiados, os estudos discutem os entraves à proteção dessas populações a partir dos fluxos migratórios, apontando o papel generalista dos Estados, que não consideram elementos específicos e individuais que motivam as migrações. Fato este que, algumas vezes, pode prejudicar o acesso e reconhecimento de seus pedidos. Os autores apontam como questões relativas ao tema têm sido debatidas no âmbito internacional, apresentando boas práticas e soluções que permitem assegurar aos refugiados a proteção a que fazem jus23. Além disso, Menezes e Reis24 analisam como o ACNUR está se manifestando no que diz respeito aos direitos humanos dos refugiados nos países de acolhida, apontando a influência da política internacional nesse contexto.
Claro25 reforça que é imprescindível uma governança migratória global, que não apenas estipule direitos aos refugiados e deveres aos Estados, mas que proteja de fato os migrantes. O debate reforça o compromisso do Estado em oferecer um conjunto básico de serviços de saúde para migrantes e refugiados nos mesmos termos que o fazem a seus cidadãos. Por exemplo, milhões de indivíduos não têm acesso ao tratamento de HIV de que necessitam e sofrem o risco de ter complicações desnecessárias e morte prematura26. Diante do contexto internacional, marcado pelos novos temas globais – dentre os quais direitos humanos e migrações forçadas –, Moreira27 ressalta os estudos brasileiros sobre o tema dos refugiados a partir da década de 1990 até a atualidade.
De acordo com Waldely et al.28, é preciso que haja uma interpretação mais inclusiva e abrangente do conjunto normativo acerca da temática do refúgio no Brasil, para que não seja violada a liberdade e a segurança dos refugiados. Nesse sentido, estudos como o apresentado por Oliveira29, que explora o princípio non-refoulement, que pode ser entendido como a não devolução de um refugiado ou solicitante de refúgio para os territórios em que sua vida ou liberdade estejam ameaçados. A autora sugere uma padronização dos serviços norteadores à população migrante e aos refugiados.
Aliado a isso, Jubilut e Madureira30 discutem a Declaração de Cartagena, para que seja capaz não apenas de lidar com os atuais desafios de proteção aos refugiados, mas ainda, responder às necessidades de apátridas, deslocados internos e outros migrantes forçados a deixar o seu país. Se esses indivíduos são refugiados, se deveriam ser entendidos como tal ou se deveria ser expandido o instituto do refúgio, como ocorreu em outros tempos, é controverso. O fundamental é que alguma medida eficaz seja acolhida pela comunidade internacional, pois os migrantes não podem ficar à deriva, vulneráveis, expostos à exploração, até mesmo, à ausência das mínimas condições de sobrevivência31. Nesse sentido, os tratados de direitos humanos – os quais os Estados violam as obrigações assumidas –, no âmbito das migrações, podem contribuir para o respeito e a dignidade dos migrantes32. Ou ainda, a utilização de novas estratégias para melhorar os procedimentos de determinação do status de refugiado, propondo um modelo comunicativo de sociedade em rede baseado no envolvimento ativo e no diálogo entre os parceiros implementadores33.
Quanto à integração social, os estudos discutem que a ignorância, a desinformação da sociedade em geral, principalmente entre os jovens universitários, sobre a realidade dos refugiados e o papel do Estado e da mídia geram uma perspectiva de que esses
grupos precisam ser salvos ou condenados34. Contudo, a literatura também traz que os fatores socioeconômicos, associados ao recebimento de benefícios de programas sociais possuem muito mais peso na emigração, pois não se consegue ter uma estatística significante para explicar a migração dos lugares secos e semiáridos, onde foi decretado calamidade pública ou situação de emergência35. Para Muller40, as evidências etnográficas coletadas em um trabalho de campo realizado nas províncias de Angola, Cabinda e Lunda Norte, procuraram confirmar como as representações midiáticas e definições jurídicas acerca de refugiados são ressignificadas em função dos modos de organização e representação coletiva das comunidades de estrangeiros nas províncias e cidades fronteiriças que operam como cenário concreto desses movimentos migratórios, produzindo diferentes formas de incorporação desses sujeitos aos contextos nos quais se encontram. Porém, os direitos humanos aliados à democracia, como um “problema” a ser administrado a partir da lógica soberana estatal, faz com que esses sujeitos não sejam capazes de gerir suas vidas no país receptor36. O ACNUR e o Brasil formalizaram um contrato de divisão de responsabilidades ampliadas pelo agenciamento político no cenário internacional37. Contudo, tem se evidenciado importantes problemas, como a precarização do trabalho, a condição de vida comprometida, o racismo, entre outros38. De acordo com Moulin39, no refúgio têm-se a esperança de oportunidades melhores, que geralmente acabam se convertendo na luta sucumbida da informalidade socioeconômica, dos marginalizados periféricos, pela sobrevivência e identidade social.
No campo da saúde mental, os estudos problematizam a necessidade de ampliação das discussões teóricas no campo da psicologia abrangendo aspectos políticos, sociais, culturais, além da defesa dos direitos humanos no atendimento e acompanhamento de pessoas em situação de refúgio41,42. Aprofundando as questões de saúde mental, Pussetti43:236 defende a necessidade de “desnaturalização dos conceitos que medicalizam o sofrimento social, mas, também, a repolitização das suas vítimas, reconhecendo-as como sujeitos ativos, capazes de usar o léxico clínico de forma estratégica pela obtenção de direitos civis”. Prates44 também discutiu a importância da memória e do resgate das vivências do processo de deslocamento e refúgio. Nesse sentido, Indursky e Conte45 destacaram a importância de intervenções coletivas e da criação de espaços de reconstrução dos ritos e tradições culturais. Parte dos estudos trabalharam relatos clínicos relacionados ao processo de refúgio, ampliando conceitos específicos como o luto e a melancolia no exílio46. O estudo de revisão sistemática sobre o tema saúde mental e refúgio identificou o aumento de produções nessa área, bem como a presente discussão acerca dos direitos humanos47.
Movimentos sociais, práticas de resistência
Os resultados demonstram que, para além da etnografia da migração e do refúgio, o ativismo de migrantes e refugiados objetiva desmistificar imaginários tipificados em relação aos deslocamentos populacionais, questionando abordagens reducionistas e apontando para o estabelecimento de relações simétricas pautadas no respeito dos direitos humanos48 Um dos estudos alerta para a possibilidade de identificar, também, a comunidade migrante como agente e protagonista da sua própria história, produzindo um distanciamento da interpretação de “vítimas passivas”49. Cita-se aqui, a importância das redes sociais para a construção de redes de cuidado e visibilidade dos movimentos sociais que buscam o reconhecimento da população migrante como sujeitos de direito. Portanto, garantir a mobilidade não é suficiente e deve ser complementada pela mobilização. A mobilidade permite ultrapassar as fronteiras geográficas, mas é a mobilização que derruba as fronteiras socioculturais da exclusão, da discriminação, da não cidadania48
Os estudos apontam que as mudanças climáticas são um imperativo e que a questão principal agora é a magnitude e a velocidade com que elas vêm acontecendo50. Para Silva51, é de responsabilidade dos Estados auxiliar as vítimas das mudanças climáticas. Assim, os refugiados ambientais, nesse aspecto, estão em constante movimento, não só no sentido do seu deslocamento geográfico, mas também nas reflexões sobre sua definição, impulsionadas pelos muitos desafios que enfrentam51. Para a autora, esse deslocamento forçado gera vulnerabilidade e fragilidade social. Ademais, devido à perda de direitos básicos, esses grupos ficam em uma condição limite entre a reintegração territorial e a política governamental e jurídica51
Um dos estudos selecionados aponta para o investimento na formação de pessoas que possam compreender a experiência de mal-estar dos imigrantes, devolvendo-lhes a dignidade sem patologizar a diferença e sem negar o sofrimento52. Para o autor, esse processo pode fornecer um outro lugar e, quem sabe, outro destino, ao sujeito estrangeiro que vem em busca de novos territórios de existência52. Sobre o tema, Lussi53 discute a respeito das políticas públicas. A autora traz a reflexão de que se estas fossem pensadas de maneira integral, contextualizadas e não simplistas para com as realidades migratórias, poderiam ser utilizadas na prevenção da violação de direitos. A autora ainda argumenta sobre a criminalização das migrações abordadas nos âmbitos legais e públicos, fazendo relação de como essas iniciativas
influenciam a forma como a sociedade percebe o migrante, refletindo em uma premissa de generalização, na qual todo estrangeiro é visto como um potencial risco de irregularidade.
No estudo analisado sobre questões de gênero, há uma articulação acerca dos direitos sexuais e dos direitos para os refugiados, referente ao que categorizam como “refugiados LGBTI”, sendo esse um grupo específico com direito ao status de refugiado quando há a possibilidade de violação dos seus direitos garantidos. A autora França54 reflete sobre como essa categoria tem sido interpretada e a forma como os solicitantes de refúgio têm sido compreendidos pelos órgãos competentes dentro dos contextos nacionais escolhidos para migrar, muitas vezes ficando sua situação de refúgio ou nacionalidade sobrepostas às suas experiências singulares.
Estudiosos como Ventura e Holzhacker55 avaliam o impacto da crise sanitária internacional sobre os direitos dos solicitantes de refúgio. Para as autoras, a existência de um sistema público de saúde, com acesso universal e gratuito, é fundamental para que os Estados possam dar uma resposta satisfatória às demandas internacionais de emergências sanitárias. O desafio de conciliar a saúde pública e as liberdades individuais é complexo, mas deixar de enfrentá-lo aumenta a possibilidade de que a escalada de pânico nos momentos de crise sanitária enseje violações evitáveis, porém graves e de efeitos duradouros. É preciso fomentar uma cultura de direitos humanos que favoreça o cumprimento das normas protetivas da legislação epidemiológica com relação aos migrantes e refugiados, além da elaboração de planos de contingências que contemplem os mecanismos de proteção aos direitos humanos dessas pessoas.
O objetivo geral foi investigar a produção de material científico acerca das pessoas em situação de refúgio com as temáticas de saúde, trabalho e direitos humanos, realizando uma revisão integrativa das produções acadêmicas nacionais e internacionais sobre a temática “refugiados” nos últimos dez anos (2008 a 2018). Diante do levantamento dos estudos, foi possível verificar que a temática do refúgio é abordada com maior frequência nos estudos do direito, seguido pela psicologia e pelas áreas de relações internacionais e antropologia social. Percebeu-se também que questões como saúde mental, inclusão social e de gênero estão associadas ao tema, mas ainda podem ser mais bem exploradas nas pesquisas. Além disso, são necessários estudos que abordem o processo de inserção, adaptação e manutenção
dos seus vínculos com o país de origem, bem como as estratégias utilizadas para a construção de uma rede de cuidado e de visibilidade através dos movimentos sociais.
As pesquisas selecionadas privilegiam as discussões relacionadas aos direitos humanos, às políticas e à legislação migratória, pautando-se principalmente em estudos teóricos. Esse dado pode ser explicado pela predominância de investigações do campo do direito, que discutem, em sua maioria, questões legais e de direitos humanos a partir de revisões da literatura. Diante disso, percebeu-se uma carência de investigações baseadas nas vivências das pessoas em situação de refúgio, de suas principais demandas e de seus olhares acerca das políticas existentes. Ressalta-se também a demanda por relatos de experiência que compartilhem os processos de construção de projetos e políticas públicas voltadas ao acolhimento e à garantia de direitos dessas populações.
Do ponto de vista da saúde, especialmente no que se refere às questões psicossociais, é preciso um olhar macrossocial e protetivo, evitando a patologização e discriminação dessa população. Estudos nessa perspectiva são importantes e podem auxiliar na formação de profissionais que prestam atendimento aos refugiados. Afinal, é necessário que os sistemas de educação, saúde e segurança, por exemplo, tenham conhecimento para trabalharem nem caridosa, nem excludente, mas humanitária.
Mesmo que a entrada da grande massa de indivíduos refugiados tenha acontecido em época recente e ainda esteja em movimento, fazendo pressupor que, possivelmente, produções estejam acontecendo e sendo publicadas em futuro próximo, pode-se pensar a forma como a comunicação com essa população está se dando, sobre os meios que se utiliza para pesquisa e os desafios que isso implica ao pesquisado e ao pesquisador.
Finalmente, algumas questões podem ser colocadas: será que poderíamos afirmar que muitos estudos produzidos adotam o olhar daqueles que criam as leis e poucos daqueles que sofrem as consequências dos acordos legais e das medidas tomadas pelos países? Por que os estudos pouco apresentam o ponto de vista do sujeito em situação de refúgio? É preciso que se promova ao indivíduo em condição de refúgio a possibilidade de protagonizar sua história, para isso, as pesquisas realizadas sobre a temática precisam dar voz a essas populações.
1. Concepção do projeto, análise e interpretação dos dados: Andressa Wendling, Carmem Regina Giongo
2. Redação do artigo e revisão crítica relevante do conteúdo intelectual: Andressa Wendling, Vilma Maria Arnold, Camila Sbeghen, Jaqueline Michaelsen Macedo, Carmem Regina Giongo.
3. Revisão e/ou aprovação final da versão a ser publicada: Andressa Wendling, Vilma Maria Arnold, Camila Sbeghen, Jaqueline Michaelsen Macedo, Carmem Regina Giongo.
4. Ser responsável por todos os aspectos do trabalho na garantia da exatidão e integridade de qualquer parte da obra: Andressa Wendling, Vilma Maria Arnold, Camila Sbeghen, Jaqueline Michaelsen Macedo, Carmem Regina Giongo.
1. Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR). Global trends: forced displacement in 2017 [Internet]. 2018 jun 25 [citado em 2022 maio 1]. Disponível em: https://www.unhcr.org/statistics/ unhcrstats/5b27be547/unhcr-global-trends-2017.html
2. Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. De 10,1 mil refugiados, apenas 5,1 mil continuam com registro ativo no Brasil [Internet]. 2018 [citado em 2019 mar 6]. Disponível em: https://www. acnur.org/portugues/2018/04/11/de-101-mil-refugiados-apenas-51-milcontinuam-no-brasil/
3. Bógus LMM, Fabiano MLA. O Brasil como destino das migrações internacionais recentes: novas relações, possibilidades e desafios. Ponto e Vírgula. 2015;(18):126-45.
4. Comitê Nacional para os Refugiados. Refúgio em números: 3ª edição [Internet]. 2018 [citado em 2022 maio 1]. Disponível em: https://www.gov.br/mj/pt-br/ assuntos/seus-direitos/refugio/refugio-em-numeros-e-publicacoes/anexos/ refugio_em_numeros-3e.pdf
5. Brasil. Lei n. 13.445, de 24 de maio de 2017. Institui a lei de migração. Brasília (DF); 2017.
6. Felles J. Em comunicado a diplomatas, governo Bolsonaro confirma saída de pacto de migração da ONU [Internet]. 2019 Jan 8 [citado em 2019 mar 6]. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-46802258
7. Martins-Borges L. Migração involuntária como fator de risco à saúde mental. REMHU: Rev Interdiscip Mobil Hum. 2013;21(40):151-62.
8. Ercole FF, Melo LS, Alcoforado CLGC. Revisão Integrativa versus revisão sistemática. REME. 2014;18(1):9-11.
9. Souza MT, Silva MD, Carvalho R. Revisão integrativa: o que é e como fazer. Einstein. 2010;8(1):102-6.
10. Botelho LLR, Cunha CCA, Macedo M. O método da revisão integrativa nos estudos organizacionais. Gestão e Sociedade. 2011;5(11):121-36.
11. Souza MT, Silva MD, Carvalho R. Revisão integrativa: o que é e como fazer. Einstein. 2010;8(1):102-6.
12. Minayo MC. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis (RJ): Vozes; 1993.
13. Fernandes JM, Accioly T, Duarte P. Refúgio no Brasil: avanços legais e entraves burocráticos [Internet]. 2017 [citado em 2019 mar 6]. Disponível em: http://dapp.fgv.br/refugio-no-brasil-avancos-legais-eentraves-burocraticos/#:~:text=Apenas%20em%202016%2C%20 3.375%20venezuelanos,e%20de%20controle%20de%20fronteira.
14. Costa BF, Teles G. A política de acolhimento de refugiados: considerações sobre o caso português. REMHU: Rev Interdiscip Mobil Hum. 2017;25(51):29-46.
15. Della Rocca PM. Os assim chamados “corredores humanitários” e o possível papel da sociedade civil nas políticas de refúgio e migração regular. REMHU: Rev Interdiscip Mobil Hum. 2017; 25(51):47-57.
16. Véran J-F, Noal DS, Fainstat T. Nem refugiados, nem migrantes: a chegada dos haitianos à cidade de Tabatinga (Amazonas). Dados. 2014; 57(4):1007-41.
17. Martins-Borges L, Pocreau J-B. A identidade como fator de imunidade psicológica: contribuições da clínica intercultural perante as situações de violência extrema. Psicol Teor Prat. 2009;11(3):224-36.
18. Murillo JC. Os legítimos interesses de segurança dos Estados e a proteção internacional de refugiados. SUR: Rev Int Direitos Human. 2009; 6(10):120-37.
19. Gomarasca P. Direito de excluir ou dever de acolher? A migração forçada como questão ética. REMHU: Rev Interdiscip Mobil Hum. 2017;25(50):11-24.
20. Derderian K, Schockaert L. Respostas a fluxos migratórios: uma perspectiva humanitária. SUR: Rev Int Direitos Human. 2009;6(10):116-9.
21. Viana MT. Cooperação internacional e deslocamento interno na Colômbia: desafios à maior crise humanitária da América do Sul. SUR: Rev Int Direitos Human. 2009;6(10):138-61.
22. Rocha RR, Moreira JB. Regime internacional para refugiados: mudanças e desafios. Rev Sociol Polit. 2010;18(37):17-30.
23. Silva JCJ, Bógus LMM, Silva SAGJ. Os fluxos migratórios mistos e os entraves à proteção aos refugiados. Rev Bras Estud Popul. 2017;34(1):15-30.
24. Menezes TS, Reis RR. Direitos humanos e refúgio: uma análise sobre o momento pós-determinação do status de refugiado. Rev Bras Polít Int. 2013;56(1):144-62.
25. Claro CAB. A proteção dos “refugiados ambientais” no direito internacional. REMHU: Rev Interdiscip Mobil Hum. 2016;24(47):215-8.
26. Amon J, Todrys K. Acesso de populações migrantes a tratamento antirretroviral no Sul Global. SUR: Rev Int Direitos Human. 2009;6(10):162-87.
27. Moreira JB. Redemocratização e direitos humanos: uma política para refugiados no Brasil. Rev Bras Polít Int. 2010;53(1):111-29.
28. Waldely AB, Virgens BG, Almeida CMJ. Refúgio e realidade: desafios da definição ampliada de refúgio à luz das solicitações no Brasil. REMHU: Rev Interdiscip Mobil Hum. 2014;22(43):117-31.
29. Oliveira LG. Barreiras fronteiriças contra o princípio de non-refoulement: a inacessibilidade do território e da determinação do status de refugiado. ver Bras Estud Popul. 2017;34(1):31-54.
30. Jubilut LL, Madureira AL. Os desafios de proteção aos refugiados e migrantes forçados no marco de Cartagena + 30. REMHU: Rev Interdiscip Mobil Hum. 2014;22(43):11-33.
31. Corrêa MAS, Nepomuceno RB, Mattos WHC, Miranda C. Migração por sobrevivência: soluções brasileiras. REMHU: Rev Interdiscip Mobil Hum. 2015;23(44):221-36.32. Jubilut LL, Apolinario SMOS. A necessidade de proteção internacional no âmbito da migração. Rev Direito GV. 2010;6(1):275-94.
33. Pacífico AP. Um modelo comunicativo de sociedade em rede para aperfeiçoar os procedimentos para determinação do status de refugiados. Rev Bras Polít Int. 2013;56(1):22-39.
34. Padilla B, Goldberg A. Dimensiones reales y simbólicas de la “crisis de refugiados” en Europa: un análisis crítico desde Portugal. REMHU: Rev Interdiscipl Mobil Hum. 2017;25(51):11-27.
35. Ojima R, Costa JV, Calixta RK. “Minha vida é andar por esse país…”: a emigração recente no semiárido setentrional, políticas sociais e meio ambiente. REMHU: Rev Interdiscip Mobil Hum. 2014;22(43):149-67.
36. Moreira JB. Refugiados no Brasil: reflexões acerca do processo de integração local. REMHU: Rev Interdiscip Mobil Hum. 2014;22(43):85-98.
37. Muller PR. Noções de solidariedade e responsabilidade no campo da cooperação internacional para a proteção de refugiados. REMHU: Rev Interdiscip Mobil Hum. 2013;21(40):229-44.
38. Martin D, Goldberg A, Silveira C. Imigração, refúgio e saúde: perspectivas de análise sociocultural. Saúde Soc. 2018;27(1):26-36.
39. Moulin C. Os direitos humanos dos humanos sem direitos: refugiados e a política do protesto. Rev Bras Ci Soc. 2011;26(76):145-55.
40. Muller PR. Situação e contexto: políticas migratórias e interações com refugiados no Norte de Angola. REMHU: Rev Interdiscipl Mobil Hum. 2016;24(47):175-93.
41. Rosa MD, Berta SL, Carignato TT, Alencar S. A condição errante do desejo: os imigrantes, migrantes, refugiados e a prática psicanalítica clínico-política. Rev Latinoam Psicopatol Fundam. 2009;12(3):497-511.
42. Saglio-Yatzimirsky MC. Do relatório ao relato, da alienação ao sujeito: a experiência de uma prática clínica com refugiados em uma instituição de saúde. Psicol USP. 2015;26(2):175-85.
43. Pussetti C. “O silêncio dos inocentes”: os paradoxos do assistencialismo e dos mártires do Mediterrâneo. Interface. 2017;21(61):263-72.
44. Prates DRA. “Não quero lembrar… muito sofrimento”: percursos da memória entre os refugiados palestinos no Brasil. Horiz Antropol. 2014;20(42):133-52.
45. Indursky AC, Conte BS. Trabalho psíquico do exílio: o corpo à prova da transição. Ágora. 2015;18(2):273-88.
46. Indursky AC, Oliveira LEP. Sobre a melancolização do exílio. Rev Latinoam Psicopatol Fundam. 2016;19(2):242-58.
47. Galina VF, Silva TBB, Haydu M, Martin D. A saúde mental dos refugiados: um olhar sobre estudos qualitativos. Interface. 2017;21(61):297-308.
48. Marinucci R. Mobilizações de migrantes e refugiados: as lutas pela visibilidade e pelo reconhecimento. REMHU: Rev Interdiscipl Mobil Hum. 2016; 24(48):7-10.
49. Denaro C. Agency, resistência e mobilidades (forçadas). O caso dos refugiados sírios em trânsito pela Itália. REMHU: Rev Interdiscip Mobil Hum. 2016;24(47):77-96.
50. Blank DMP. O contexto das mudanças climáticas e as suas vítimas. Mercator. 2015;14(2):157-72.
51. Silva DF. O fenômeno dos refugiados no mundo e o atual cenário complexo das migrações forçadas. Rev Bras Estud Pop. 2017;34(1):163-70.
52. Knobloch F. Impasses no atendimento e assistência do migrante e refugiados na saúde e saúde mental. Psicol USP. 2015;26(2):169-74.
53. Lussi C. Políticas públicas e desigualdades na migração e refúgio. Psicol USP. 2015;26(2):136-44.
54. França IL. “Refugiados LGBTI”: direitos e narrativas entrecruzando gênero, sexualidade e violência. Cad Pagu. 2017;50:e17506.
55. Ventura D, Holzhacker V. Saúde global e direitos humanos: o primeiro caso suspeito de ebola no Brasil. Lua Nova. 2016;98:107-40.
Recebido: 6.11.2019. Aprovado: 20.3.2021.
https://orcid.org/0000-0003-3733-5739
Resumo
Este artigo retrata as possibilidades de o enfermeiro compreender as posturas profissionais adequadas em seu ambiente de trabalho no cuidado seguro ao paciente por meio de medidas preventivas que favoreçam as correções dos erros em seu setor, percebendo, portanto, o risco de eventos adversos e, promovendo ações de cuidado. Além disso, foi apresentado como objetivo analisar a percepção do enfermeiro em relação à segurança do paciente no setor de urgência e emergência, aplicando como metodologia uma revisão de literatura com abordagem qualitativa. Foram consultadas as plataformas: Scientific Electronic Library Online (Scielo), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde ( Lilacs), bem como , livros e periódicos nacionais, com a utilização de descritores controlados. Como metodologia, utilizou-se a Análise de Conteúdo de Bardin, apontando como resultado enfermeiros empenhados na busca pela qualidade da assistência, desenvolvendo um trabalho atento para os riscos aos pacientes.
Palavras-chave: Segurança do paciente. Enfermagem em emergência. Gerenciamento de riscos.
NURSE’SPERCEPTION PATIENT SAFETY IN THE EMERGENCY AND URGENT CARE SECTOR: A LITERATURE REVIEW
Abstract
This study analyzes the possibilities for nurses to understand the appropriate professional attitudes in the work environment for safe patient care, through preventive measures
a Pedagoga e Enfermeira, Pós-graduada em Urgência e Emergência na Laureate International Universities Universidade Salvador. Salvador, Bahia, Brasil. E-mail: unifacs.pos@unifacs.br Endereço para correspondência: Ladeira Grande, n.08, Luis Anselmo, Salvador (BA), Brasil. CEP 40260-470. E-mail: liliabrito@hotmail.com
that favor the corrections of errors in their sector, thus perceiving the risk of adverse events, and promoting care actions. It sought to investigate nurse’s perception regarding patient safety in the emergency and urgent care sector through a qualitative literature review Bibliographic search was conducted in the Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) and Latin American and Caribbean Health Sciences Literature (LILACS) databases, as well as books and national journals, using controlled descriptors. Data was investigated based on Bardin’s content analysis, pointing as result nurses committed to searching for quality care developing a work attentive to patient risks.
Keywords: Patient safety. Emergency nursing. Risk management.
PERCEPCIÓN DEL ENFERMERO EN LA SEGURIDAD DEL PACIENTE EN EL SECTOR DE URGENCIA Y EMERGENCIA: UNA REVISIÓN DE LITERATURA
Resumen
Este estudio retrata cómo el enfermero puede comprender posturas profesionales más adecuadas en el ambiente de trabajo para brindar un cuidado seguro al paciente por medio de medidas preventivas que favorezcan las correcciones de errores en el sector percibiendo, así, el riesgo de evento adverso, promoviendo acciones de cuidado. Además, se presenta como objetivo analizar la percepción del enfermero en la seguridad del paciente en el sector de urgencia y emergencia aplicando como metodología una revisión de literatura, de tipo cualitativa. Se realizaron búsquedas en las plataformas Scientific Electronic Library Online (Scielo), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline) y Literatura Latinoamericana y del Caribe em Ciencias de la Salud (Lilacs), además de libros y revistas nacionales, utilizando descriptores controlados. La metodología aplicada fue el análisis de contenido de Bardin, y los resultados apuntan que los enfermeros están enfocados y comprometidos con la búsqueda de la calidad en la asistencia, desarrollando un trabajo con atenció a riesgo a los pacientes.
Palabras clave: Seguridad del paciente. Enfermería em emergencia. Gestión de riesgos.
Falar sobre a segurança do paciente, conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS), significa falar sobre a redução, minimamente aceitável, dos riscos causados pelos danos desnecessários associados aos cuidados de saúde 1. No entanto, a prática indevida persiste em processos assistenciais e administrativos dos estabelecimentos de saúde em todo o mundo2.
Perceber formas inovadoras de trabalho e aperfeiçoar o conhecimento profissional possibilitam o cuidado seguro ao paciente, tanto por meio da mudança no comportamento profissional, quanto por meio da mudança no ambiente de trabalho, resultando em melhorias para o paciente, para todo o hospital, família e comunidade. O tema “segurança do paciente” tem sido desenvolvido sistematicamente pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) desde a sua criação, contribuindo com a missão da vigilância sanitária de proteger a saúde da população e intervir nos riscos dos usos de produtos e serviços a ela sujeitos, por meio de práticas de vigilância, controle, regulação e monitoramento sobre os serviços de saúde e o uso das tecnologias disponíveis para o cuidado2
Os sistemas de serviços de saúde são complexos e têm incorporado tecnologias e técnicas elaboradas, acompanhados dos riscos adicionais na prestação de assistência aos pacientes. Entretanto, medidas simples e efetivas reduzem riscos e danos nesses serviços, essas medidas realizadas seguramente, pelos profissionais de saúde, por meio do seguimento de protocolos específicos, associadas às barreiras de segurança nos sistemas, previnem eventos adversos relacionados à assistência à saúde, salvando vidas.3
Além disso, são analisadas as necessidades de mudanças para que o enfermeiro seja responsável por coordenar e conhecer o local cujo cuidado pertence a ele, identificando as fragilidades e as potencialidades da unidade, a fim de melhorar a assistência do cuidado, bem como organiza ambiente e liderar suas equipes. Sobretudo, em relação aos profissionais dos setores de urgência e emergência expostos ao erro devido ao fluxo de pacientes e a dinamicidade da unidade de saúde. Sendo assim, os profissionais de enfermagem ganham destaque, pois estão vulneráveis aos erros dentro de uma instituição hospitalar devido o contingente populacional, além da sobrecarga de trabalho que lhes são atribuídas.
Com efeito, garantir a segurança do paciente é fundamental, pois, receber uma assistência à saúde de qualidade é um direito do indivíduo e os serviços de saúde devem oferecer uma atenção efetiva, eficiente e, segura, do paciente em todo o processo3
Assim, a Anvisa regulamenta o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP)4, pois essa traz consigo iniciativas que contribuem para qualificação dos processos de cuidado da prestação em todos os serviços de saúde, demonstrando compromisso e planejamento. Em consonância a Portaria 529/2013, cria o Programa Nacional de Segurança do Paciente e, que segundo a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 36, de 25 de julho de 2013, ratifica ações para a segurança do paciente em serviços de saúde2. Dessa maneira, o enfermeiro será capaz de propor medidas preventivas que favoreçam as correções no setor em exercício, já que será capaz de identificar o risco de um evento adverso e colaborar para qualidade e
segurança do paciente. Dessa forma, é o que sugere o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP):ideais de políticas do cuidado e, redução de risco de doenças em todo o território nacional.
A ocorrência de eventos adversos impacta o Sistema Único de Saúde (SUS), sobretudo, provocar o aumento da morbidade, da mortalidade, do tempo de tratamento dos pacientes e dos custos assistenciais, além de repercutir em outros aspectos sociais e econômicos do país5. Nesse sentido, conforme uma pesquisa recente em três hospitais de ensino do Rio de Janeiro foi identificada uma incidência de 7,6% de pacientes com eventos adversos, sendo 66,7% desses eventos evitáveis. Com relação à classificação, os eventos adversos cirúrgicos correspondem aos mais frequentes 35,2%6, seguido pelos associados à procedimentos clínicos7
Outro estudo também realizado em um hospital no Rio de Janeiro sugeriu que, embora a possibilidade de precisão há indicações que os eventos adversos (EA) evitáveis sejam um grave e desconhecido problema no Brasil. Considerando que houve 27.350 internações nos três hospitais no ano de 2003, a estimativa do número de pacientes com apenas um EA evitável para o conjunto de internações seria: 4.394 pacientes com dano por atraso ou falha no diagnóstico e/ou tratamento; 6.347 pacientes com complicações cirúrgicas e/ou anestésicas; 489 pacientes com complicações na punção venosa; 976 pacientes com dano associado a medicamentos; 489 pacientes com dano em função de uma queda; 6.348 pacientes com infecção associada ao cuidado; 4.884 pacientes com úlcera por pressão. É estimado que 3.423 pacientes possivelmente sofreram mais de um EA evitável nos hospitais avaliados no ano de 2003.Isso comprova que o fator contribuinte mais frequente da ocorrência de um EA evitável foi a ausência do cumprimento de alguma norma, ou seja, em 55,9% (36) dos casos, o profissional não verificou ou não seguiu o protocolo ou a diretriz clínica 8 .
Diante desse cenário, o Comitê de Implementação do Programa Nacional de Segurança do Paciente (CIPNSP), com a finalidade de promover ações de melhoria da segurança do cuidado, implementou seis metas elementares na respectiva ordem: (1) identificação do paciente, (2) comunicação entre os profissionais de saúde, (3) segurança na prescrição, e uso administração de medicamentos, (4) cirurgia segura, (5) higienização das mãos, (6) minimização do risco de quedas e úlceras por pressão1.
Percebe-se, portanto, a necessidade de ampliar a discussão da segurança do paciente com todos os profissionais envolvidos no cuidado, por meio da criação de comissões multiprofissionais para a implementação de ações e práticas, visando o envolvimento coletivo, com uma comunicação objetiva e segura, que contribuirá para uma cultura de segurança do paciente9 A inclusão de indicadores de segurança em programas de monitoramento de qualidade representam uma estratégia para orientar medidas que promovam a segurança do paciente hospitalizado6.
Logo, considerando a necessidade de análise dos fatores de risco e implementação de uma segurança ao paciente de qualidade para entender a dinâmica do erro e do dano, este artigo abordará como o enfermeiro contribuirá na segurança do paciente no setor de urgência e emergência, por meio de artigos publicados em periódicos nacionais.
Portanto, o objetivo é analisar a compreensão do enfermeiro na segurança do paciente em seu setor de urgência e emergência.
A relevância desse estudo encontra-se pela contribuição de um melhor gerenciamento do cuidado, na qualificação do enfermeiro, garantindo a, assistência do paciente. É inegável o empenho dos enfermeiros pela busca de um resultado prudente que valide as suas ações evitando os erros ainda que existam os erros naturais ao cotidiano do trabalho. Sendo assim, é de responsabilidade do sistema é criar mecanismos para minimizar esses erros e, consequentemente, reduzir os danos aos paciento10. Dessa forma, este artigo reitera a segurança do paciente independentemente das circunstâncias do processo, bem como o monitoramento precoce dos problemas por parte profissionais.
Trata-se de uma revisão de literatura, indispensável não somente para definir o problema, como também para obter uma ideia precisa sobre o conhecimento acerca de determinado tema, as suas lacunas e a contribuição da investigação para o desenvolvimento do conhecimento 11 Foi utilizada a abordagem qualitativa, cuja literatura sugere que se trabalhe objetivamente para o entendimento do método, pois não convém copiar o entendimento que se traz de outras abordagens investigativas. Além disso, método qualitativo atribuído a este artigo não é usado apenas para estudar a “qualidade” de um objeto, mas parra entender seu significado individual ou coletivo em relação à vida das pessoas 12 E, nesse contexto, trazemos a análise do conteúdo com a intenção de apresentar uma opinião crítica 13
Foram utilizados, como critério de inclusão, os descritores controlados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): segurança do paciente; enfermagem em emergência; gerenciamento de risco na emergência. Nas plataformas Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs); Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline) e Scientific Electronic Libray Online (Scielo), além disso, foi realizada uma revisão bibliográfica, incluindo livros, periódicos nacionais e sítios de internet. Seguindo com os critérios de inclusão, foram utilizados artigos na íntegra, com linguagem em português, que atenderam aos objetivos do estudo com ação temporal de publicação de 2009 a 2017. A escolha desse período foi necessária, a fim de aproveitar temas recentes e analisar como as instituições hospitalares que abordaram o tema estudado.Foram selecionados 1529 artigos e, após aplicação dos critérios de exclusão, restaram 103, por fim, desses 103 artigos, 26 se repetiram restando 77 publicações, que atenderam os propósitos desta pesquisa.
A execução do estudo e as coletas de dados do material empírico foram realizadas no primeiro semestre do ano de 2018.
Foram encontrados 103 artigos. Desses, 26 (31%) se repetiam nas bases de dados. Restando 77 artigos para a análise, sendo 43 artigos (33%) da base de dados da Lilacs, 13 (28%) da Medline, e 47 (54%) da Scielo.
A busca realizada em bancos de dados, considerando a utilização de um, dois ou todos os descritores simultaneamente, representou 1.529 artigos identificados. Após a realização da leitura do título, resumo e texto na íntegra, foram desconsiderados 1.425 artigos em discordância com o tema, portanto foram selecionados para amostra final 103 artigos, restando para análise 77 artigos, tal como indicado na Tabela 1.
Tabela 1 – Distribuição dos artigos localizados, excluídos e selecionados nas bases eletrônicas de dados Brasil - 2009 a 2017.
Fonte: Elaboração própria.
* Dados numéricos em percentagem arredondados.
Dos 77 artigos analisados para este artigo, obtiveram-se as seguintes percentagens entre os anos estudados: 2009 (25%); 2010 (10%); em 2011 (6%); 2012 (13%); 2013(8%); 2014(5%); 2015 (28%); 2016 (6%) e em 2017 apenas (4%). Consoante Gráfico 1:
Gráfico 1 – Artigos encontrados entre os anos de 2009 e 2017. Salvador, Bahia, Brasil - 2017.
Portanto, a análise desses resultados apresentou estatisticamente a quantidade de artigos encontrados por ano relacionado ao tema, com destaques os anos de 2009 e 2015. Além disso, foi observado que a maioria das publicações foram retiradas das Revistas Acta Paulista de Enfermagem, ‘Revista Gaúcha de Enfermagem (RGE)’ e Revista Brasileira de Enfermagem (Reben).
Analisando a distribuição geográfica por reprodução científica relacionada com o tema segurança do paciente, a região Sudeste do Brasil apresentou 51 (66%) artigos; seguido da região Sul com 12 (16%) estudos; Nordeste com 9 (12%) e 5 (6%) na região Norte.
Segundo o Gráfico 2 , foram identificados os principais temas abordados: percepções e monitoramento da qualidade com 25 artigos (32%); vinte artigos (26%) debateram sobre a identificação e incidência de eventos adversos; 14 artigos (18%) apresentaram a elaboração, implantação de checklists e protocolos de atendimento; oito artigos (10%) retrataram sobre os cuidados de enfermagem com destaque em medicamentos; seis artigos (8%) trabalharam com a percepções sobre segurança no setor da emergência e a importância da comunicação efetiva e, por fim, quatro artigos (5%) discutiram sobre o gerenciamento de riscos.
Portanto, dados apontaram que a partir da análise dos artigos, foi possível observar os principais temas referidos aos eixos do cuidado, além de identificar como o enfermeiro contribuirá para segurança do paciente.
Gráfico 2 – Demonstração dos principais temas abordados. Salvador, Bahia, Brasil, 2017. Principais Tem áticas
Percepções e Monitoramento da quali dade - 32%
Identi ficação e Incidência de Eventos adversos-26%
Elaboração, Impl antação de Checklists e Protocolo s de atendimento-18%
Cui dados de Enfermagem com Foco no s Medicamentos-10%
Percepções e sobre Seg. no setor de Emergência e a Imp. Comunicação Efetiva-8% Gerenciamento de Ri scos-5%
Fonte: Elaboração própria. DISCUSSÃO
A elaboração desta pesquisa seguiu as seguintes etapas: (1) identificação do tema e seleção da questão, (2) estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão, (3) organização da coleta de dados, (4) interpretação dos resultados, (5) apresentação da síntese do conhecimento. (13,14)
(1) Identificação do tema e seleção da questão de pesquisa com a temática “Percepção do enfermeiro na segurança do paciente no setor de urgência e emergência: uma revisão de literatura”, e, consequentemente, a questão norteadora: Como o enfermeiro contribuirá na segurança do paciente no setor de urgência e emergência nos artigos publicados em periódicos nacionais?
(2) Estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão, em que, foram reunidos termos simultâneos com a inserção de operador Booleanos “and” e, utilizando-se dois ou três descritores nas bases de dados Medline, Lilacs, além da biblioteca virtual Scielo.
Dessa forma, foram agrupados os seguintes termos: segurança do paciente, enfermagem em emergência, gerenciamento de riscos, gerenciamento de riscos, enfermagem em emergência, segurança do paciente, enfermagem em emergência, segurança do paciente, gerenciamento de riscos. Entretanto, quando utilizado os termos isoladamente para exclusão, foram obtidos números razoáveis de artigos filtrados ou nenhum artigo.
(3) Organização da coleta de dados – “É a fase de organização propriamente dita. Corresponde a um período de instituições, mas tem por objetivo tornar operacionais e sistematizar as ideias iniciais, de maneira a conduzir a um esquema preciso do desenvolvimento das operações sucessivas, num plano de análise. Com isso, foi realizada a leitura flutuante que consiste em estabelecer contatos com os documentos a analisar e em conhecer o texto deixandose invadir por impressões e orientações.”13. Logo, depois foi feita uma releitura minuciosa dos textos na íntegra, desconsiderando textos de pesquisas irrelevantes. Após, essa análise procurou avaliar e utilizar os artigos que pudessem responder o objetivo da pesquisa.
(4) Interpretação dos resultados, “[...] permitem estabelecer quadros de resultados, diagramas, figuras e modelos, os quais condensam e põem em relevo as informações fornecidas pela análise.”13:70. Foi necessário construir um quadro e uma tabela para classificar e evidenciar a possibilidade do resultado da pesquisa. Foi possível, estabelecer uma análise crítica para amostra final. Nesse sentido, foi necessário expor a análise de modo descritivo, a fim esclarecer com mais rigor as informações referentes às interpretações analisadas, sendo assim validadas e submetidas a um resultado significativo procurando embasar as análises dando sentido à interpretação.
(5) Apresentação da revisão e síntese do conhecimento – Nessa etapa, a revisão deve possibilitar a replicação do estudo. Dessa forma, a revisão integrativa deve permitir informações que possibilitem que os leitores avaliem a pertinência dos procedimentos empregados na elaboração da revisão14. Desse modo, foram realizadas anotações adequadas, que atendessem o objetivo da pesquisa. Além disso, foram realizadas comparações das informações coletadas. Nessas anotações havia informações como qual o tipo da revista, autor, ano, local e resumos. A coleta foi classificada conforme a releitura e os trechos retirados dos artigos considerados importantes para análise. Nesse contexto, a análise dos artigos possibilitou a compreensão da necessidade dos enfermeiros realizarem inclusões dos indicadores de segurança em programas de monitoramento da qualidade. Além da implementação de protocolos específicos, associadas às barreiras de segurança nas instituições de saúde.
Portanto, ações ligadas à segurança do paciente têm provido mudanças na prática do enfermeiro, implantar uma cultura de segurança e qualidade ao atendimento e saúde são necessárias e, ao mesmo tempo complexas. Pois, consiste em um processo dinâmico, contínuo que exige bom senso e consciência da prática diária. Contudo, o clima de insegurança ainda persiste em certas instituições hospitalares, pois expor os erros profissionais corrobora para o constrangimento profissional e a omissão da notificação. Entretanto, sabe-se que métodos de
prevenção servem como barreira para reduzir o erro, além de ser de baixo custo. Portanto, a contribuição do enfermeiro para o gerenciamento do cuidado exige empenho, trabalho em equipe e formação continuada, já que são estratégias básicas para ampliar a segurança, a qualidade nos processos e o êxito do cuidado.
Os enfermeiros, decerto, estão empenhados na busca pela qualidade da assistência médica, tentando desenvolver seu trabalho com atenção a os riscos, seja aperfeiçoando o conhecimento profissional, instituindo protocolos, fazendo notificação dos eventos, propondo planos de cuidados conforme os riscos assistenciais e físicos, identificando na unidade de emergências transformações para a prática de enfermagem e em toda instituição hospitalar, estratégias de um trabalho colaborativo assistencial, a fim de alcançar metas de segurança ao paciente sugeridas pela Organização Mundial de Saúde.
1. Concepção do projeto, análise e interpretação dos dados: Lília Borges Brito.
2. Redação do artigo e revisão crítica relevante do conteúdo intelectual: Lília Borges Brito.
3. Revisão e/ou aprovação final da versão a ser publicada: Lília Borges Brito.
4. Ser responsável por todos os aspectos do trabalho na garantia da exatidão e integridade de qualquer parte da obra: Lília Borges Brito.
1. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº. 529, de 1 de abril de 2013. Institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP). Brasília, (DF); 2013.
2. Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Implantação do Núcleo de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde. [Internet] 2016 –[ citado em 2018 fev] Disponível em https://segurancadopaciente.com.br/wp-content/ uploads/2015/09/ebook-anvisa-06-implantacao-do-nucleo-de-segurancado-paciente-em-servicos-de-saude.pd
3. Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Assistência segura: uma reflexão teórica aplicada à prática. Brasília (DF) : Anvisa; 2017
4. Gomes ATL, Salvador PTCO, Rodrigues CCFM, Silva MF, Ferreira LL, Santos VEP. A segurança do paciente nos caminhos percorridos pela enfermagem brasileira. Rev Bras Enferm. 2017; 70(1): 146-54.
5. Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Investigação de eventos adversos em serviços de saúde. Brasília (DF): Anvisa; 2013
6. Gouvêa CSD, Travassos C. Indicadores de segurança do paciente para hospitais de pacientes agudos: revisão sistemática. Cad. Saúde Pública2010; 26(6): 1061-78.
7. Reis CT, Martins M, Laguardia J. A segurança do paciente como dimensão da qualidade do cuidado de saúde: um olhar sobre a literatura. Ciênc. Saúde Colet. 2013;18(7):2029-36.
8. Mendes W, Pavão ALB, Martins M, Moura MLO, Travassos C. Características de eventos adversos evitáveis em hospitais do Rio de Janeiro. Rev Assoc Med Bras. 2013;59(5):421-28.
9. Toso GL, Golle L, Magnago TSBS, Herr GEG, Loro MM, Aozane F, et al. Cultura de segurança do paciente em instituições hospitalares na perspectiva da enfermagem. Rev Gaúcha Enferm. 2016;37(4):1-8.
10. Brasil. Ministério da Saúde. Documento de referência para o Programa Nacional de Segurança do Paciente Brasília (DF): Ministério da Saúde;2014
11. Bento, A. Como fazer uma revisão da literatura: considerações teóricas e práticas. Revista JÁ.2012:42-4.
12. Turato ER. Métodos qualitativos e quantitativos na área da saúde: definições, diferenças e seus objetos de pesquisa. Rev. Saúde Pública. 2005; 39 (3):507-14.
13. Bardin, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70; 2011.
14. Botelho, LLR, Cunha, CCA, Macedo, M. O método da revisão integrativa nos estudos organizacionais. Gestão e Soc. 2011;5(11):121-36.
Recebido: 20.4.2018. Aprovado: 24.5.2022.
Scheila Maia
https://orcid.org/0000-0003-1800-0140
Roger dos Santos Rosab
https://orcid.org/0000-0002-7315-1200
Fábio Herrmannc
https://orcid.org/0000-0001-6934-9698
Resumo
O presente artigo tem como objetivo sistematizar o que tem sido publicado sobre desperdício de vacinas multidoses e monodoses. Trata-se de uma revisão da literatura construída a partir da questão norteadora: O que a literatura tem publicado sobre o desperdício de vacinas? Os unitermos definidos foram: “vaccine”, “waste”, “vial wastage” e “multidose”. Para a seleção dos artigos foram consultadas as bases de dados “PubMed”, “Scielo”, “Revista Vaccine”, “Periódicos Capes”, “Teses e Dissertações Capes”. Optou-se em continuar a busca por mais estudos utilizando a técnica “schneeball”. A amostra final foi constituída de 26 artigos e duas dissertações, sendo o texto mais antigo de 2002 e os mais recentes de 2017. A maioria teve sua publicação no idioma inglês e em periódicos internacionais. Concluímos que independentemente das causas de desperdício de vacinas, evidencia-se a importância do monitoramento desses desperdícios e de serem criadas estratégias para sua redução.
Palavras-chaves: Vacina. Desperdício. Desperdício de frasco. Multidose.
a Residente especializada em Saúde Coletiva com Ênfase em Atenção Básica. Especialista em Gestão em Saúde Pública. Graduada em Enfermagem com Ênfase em Saúde Pública pela Universidade Estadual de Santa Catarina. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. E-mail: scheilamaienf@gmail.com
b Doutor na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. E-mail:lroger.rosa@ufrgs.br
c Médico Residente em Cirurgia Geral pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. E-mail: fabioherrmannmed@gmail.com
Endereço para correspondência: Rua Professor Cristiano Fischer, n. 2062, apartamento 1209, Petrópolis. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. CEP: 91530-034. E-mail: scheilamaienf@gmail.com
Abstract
This literature review summarizes the recent research published on multi-dose and single-dose vaccine waste. Based on the research question “What has been published on vaccine waste?” papers were selected from the PubMed, Scielo, Vaccine Magazine, Periods Capes, and Thesis and Dissertation Capes databases using the following descriptors: “vaccine,” “waste,” “vial wastage,” “multidose.” A manual search was performed using the “schneeball” technique. The final sample comprised 26 papers and 2 dissertations, the oldest text being from 2002 and the most recent from 2017. Most articles were published in English and in international journals. In conclusion, regardless its causes, vaccine wastage must be monitored and strategies developed for its reduction.
Keywords: Vaccine. Waste. Waste bottle. Multidose.
RESIDUOS DE VACUNAS: UNA REVISIÓN DE LA LITERATURA
Resumen
El presente artículo tiene como objetivo sistematizar lo que se ha publicado sobre el desperdicio de vacunas multidosis y monodosis. Se trata de una revisión de la literatura construida a partir de la cuestión orientadora: ¿Qué ha publicado la literatura sobre el desperdicio de vacunas? Los términos definidos fueron: “vaccine”, “waste”, “vial wastage” y “multidose”. Para la selección de los artículos fueron consultadas las bases de datos “PubMed”, “SciELO”, “Revista Vaccine”, “Periódicos Capes” y “Teses e Dissertações Capes”. Se optó por continuar la búsqueda de más estudios utilizando la técnica “schneeball”. La muestra final constó de 26 artículos y dos disertaciones, en que el más antiguo fue de 2002 y los más recientes de 2017. La mayoría tuvo su publicación en el idioma inglés y en revistas internacionales. Se concluyó que, independiente de las causas de desperdicio de vacunas, se evidencia la importancia del monitoreo de esos desperdicios y de que se creen estrategias para su reducción.
Palabras clave: Vacuna. Desperdicio. Desperdicio de frasco. Multidosis.
Existem vacinas de apresentação em frasco monodose (contém uma única dose para um único indivíduo) e multidose (várias doses contidas em um frasco)1. Os frascos
multidoses nos países em desenvolvimento variam de duas a vinte doses, enquanto nos países desenvolvidos, devido a preocupação de segurança da vacina, a opção predominante tem sido frascos de dose única2
Na imunização, a quantidade de doses de vacinas utilizadas é sempre maior que o número de pessoas vacinadas, sendo o quantitativo excedente reconhecido como desperdício de vacinas3. Como as vacinas são tecnologias relevantes para a saúde da população, suas perdas devem ser monitoradas e corrigidas4.
Tomar conhecimento dos motivos específicos do desperdício de vacinas poderia ajudar a repensar práticas e políticas de imunização, direcionando esforços para a sua redução, especialmente em países em desenvolvimento4,5. No Brasil, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) é responsável pela organização da política nacional de vacinação, para além de gerenciar estratégias de controle e erradicação das doenças imunopreveníveis, cabe também ao PNI gerenciar a aquisição e distribuição de vacinas, em vista da diminuição de perdas de vacinas. Esse monitoramento é possível por meio do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), que contém informações de perdas técnicas, perdas físicas e por outros motivos5
O uso de frascos de multidose é uma forma de desperdício de grande magnitude, entretanto pouco estudado e reconhecido. O número de doses por frascos pode influenciar no desperdício de vacinas e ter consequências para o atingimento de metas de coberturas vacinais de forma oportuna, segura e equitativa6 Nesse sentido, para documentar o que tem sido publicado sobre desperdício de vacinas multidoses e monodoses, os autores realizaram uma revisão da literatura que explorou diferentes bases de pesquisas tendo como objetivo sistematizar o que tem sido publicado sobre desperdício de vacinas multidoses e monodoses.
Como recursos metodológicos para realização desta pesquisa foram utilizadas as etapas correspondentes à revisão integrativa de literatura, propostas por Souza, Silva e Carvalho (2010). Elas consistem em: definição do tema; estabelecimento da hipótese; definição dos critérios de inclusão e exclusão e das informações que serão retiradas dos artigos selecionados; avaliação crítica dos artigos incluídos no estudo; interpretação dos resultados; apresentação da revisão/síntese do conhecimento7
A busca foi construída a partir da questão norteadora: O que a literatura tem publicado sobre o desperdício de vacinas? Como critério de inclusão foram escolhidos estudos completos em português e inglês, publicados de 2000 a 2017. Foram excluídos os textos
que não possuíam acesso livre. A estratégia de busca bibliográfica inicial partiu das palavras chaves “vaccine”, “waste”, “vial wastage”, “multidose”. Foram consultadas as bases de dados na Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos (PubMed), na biblioteca eletrônica Scientific Electronic Library Online (Scielo), na revista médica publicada pela Elsevier artigos específicos sobre vacinas (Revista Vaccine) e na biblioteca virtual para instituições de ensino e pesquisa (Periódicos Capes) e no banco de teses e dissertações Capes.
Os estudos foram selecionados considerando primeiro a leitura de títulos, depois a leitura de resumos, e os estudos selecionados foram lidos na integra, compondo a seleção final artigos e dissertações. Ainda, foi utilizando a técnica “bola de neve” até alcançar a saturação teórica. A amostra final se constituiu de 26 artigos e duas dissertações.
RESULTADOS DA ESTRATÉGIA DE BUSCA
Inicialmente foram obtidos 127 artigos na base “Pubmed”, 859 no “Scielo”, 102 na “Revista Vaccine”, 1.062 no “Periódicos Capes” e 853 na base de “Teses e Dissertações Capes”, totalizando 3.003 referências. A seleção dos estudos foi realizada por meio da leitura minuciosa de títulos e resumos para verificar a adequação à questão norteadora. Restaram na seleção final 89 artigos dos quais 24 da “Vaccine”, 12 do PubMed, 25 do Scielo, 28 do Periódicos Capes e dez dissertações, referências que foram lidas na íntegra. Desses, foram escolhidos apenas 15 artigos e duas dissertações, por responderem mais diretamente à questão norteadora da busca. Todavia, nesse processo identificaram-se referências citadas nos estudos da amostra original, mas que não haviam sido contemplados na busca utilizando os unitermos anteriormente mencionados.
Assim, optou-se em continuar a busca utilizando a técnica “bola de neve” por meio da análise das referências bibliográficas dos estudos selecionados. Incorporaram-se artigos externos à amostra original até alcançar a saturação teórica. Dessa forma, a amostra final se constitui de 26 artigos e duas dissertações, sendo o mais antigo texto publicado em 2002 e o mais recente em 2017. Uma (3,5%) referência foi publicada em 2002, uma (3,5%) em 2003, cinco (17,8%) em 2010, três (10,7%) em 2011, três (10,7%) em 2012, três (10,7%) em 2013, três (10,7%) em 2014, três (10,7%) em 2015, dois (7,1%) em 2016 e quatro (14,2%) em 2017. O Quadro 1 descreve os estudos selecionados para revisão da literatura.
Revista Baiana de Saúde Pública
Quadro 1 – Descrição dos estudos selecionados na revisão da literatura: autor/ano, título, fonte de dados, local do estudo, contextualização. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil – 2018
Autor/Ano Título Fonte de dados Local do estudo
Setia et al., 2002 Frequency and causes of vaccine wastage Vaccine Estados Unidos
Drain et al., 2003
Single-dose versus multi-dose vaccine vials for immunization programmes in developing countries
Pub Med Global
Pereira et al., 2010
Vaccine presentation in the USA: economics of prefilled syringes versus multidose vial for influenza vaccination.
Scielo Estados Unidos da América
Guichard et al., 2010 Vaccine wastage in Bangladesh Vaccine Bangladesh, Índia
Parmar et al , 2010
Impact of wastage on single and multi-dose vaccine vials: Implications for introducing Pneumococcal vaccines in developing countries
Pub Med Global
Gosbell et al., 2010 Immunisation and multi-dose vials Externo Austrália
Lee et al., 2010 Single versus multi-dose vaccine vials: An economic computational model
Lee et al., 2011
Vaccine Global
Replacing the measles ten-dose vaccine presentation with the single-dose presentation in Thailand
Estudo sobre desperdício de vacinas nos Estados Unidos, 64 programas de imunização foram pesquisados em 1998 e 1999 para práticas de registro de desperdício.
O estudo analisou as questões que afetam o uso da vacina de frascos dose única e de doses múltiplas, em países em desenvolvimento.
Estudo mediu os custos de administração da vacinação contra influenza comparando o frasco multidose versus frascos único ou apresentação de seringa pré-preenchida durante a campanha da Influenza.
Estudo retrospectivo sobre o desperdício de vacinas para estimar as taxas gerais de desperdício de vacina de janeiro a dezembro de 2004 para BCG, sarampo, DTP e TT.
Projetar as implicações de custo do desperdício de vacinas variações entre os tamanhos dos frascos.
Estudo analisa os riscos infecciosos associados a frascos multi-dose.
O estudo desenvolveu um modelo computacional para prever o potencial impacto econômico de doses únicas versus doses múltiplas.
Vaccine Tailândia, Ásia.
Assi et al., 2011
Samad, 2011
Impact of changing the measles vaccine vial size on Niger’s vaccine supply chain: a computational model
Perdas vacinais: razões e prevalências em quatro unidades federativas do Brasil
Externo Nigeria
Dissertação Capes
Brasil, quatro estados (Santa Catarina, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte
O estudo desenvolveu um modelo computacional na Tailândia para analisar os efeitos da mudança de uma apresentação de dez doses para uma vacina de dose única.
O estudo desenvolveu um modelo de simulação da cadeia de fornecimento de vacinas representando cada vacina, local de armazenamento, geladeira, freezer e dispositivo de transporte. As experiências simularam o impacto da substituição do tamanho do frasco de dez doses do sarampo por tamanhos de cinco doses, duas doses e uma dose.
Estudo avaliou a prevalência e tipos de perdas de quatro vacinas em quatro unidades federativas.
Quadro 1 – Descrição dos estudos selecionados na revisão da literatura: autor/ano, título, fonte de dados, local do estudo, contextualização. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil – 2018
Autor/Ano Título
Dhamodharan e Proano, 2012
Chinnakali et al., 2012
Determining the optimal vaccine vial size in developing countries: a Monte Carlo simulation approach
Vaccine wastage assessmentin a primary care setting in urban India
Novaes et al., 2012 Caracterização das perdas da vacina contra rotavírus e de seus custos associados
Mehta et al., 2013 Evaluation of vaccine wastage in Surat
Fonte de dados Local do estudo Contextualização
Períodicos Capes Não identificável
PubMed Central Delhi- Índia
Externo Brasil, Juiz de Fora (Minas Gerais)
Externo Ìndia, Surat
Novaes et al., 2011
Perdas da vacina tetravalente e seu impacto no aumento do custo unitário das doses
Pereira et al., 2013
Yang et al., 2014
Mofrad et al., 2014
Análise da taxa de utilização e perda de vacinas no programa nacional de imunização
The budget impact of controlling wastage with smaller vials: A data driven model of session sizes in Bangladesh, India (Uttar Pradesh), Mozambique, and Uganda
Dynamically optimizing the administration of vaccines from multi-dose vials
Externo Brasil
Scielo Brasil, Curitiba (Paraná)
Estudo que integrou um modelo de programação-um método de simulação para determinar a escolha do tamanho do frasco de vacina.
Estudo sobre o desperdício de vacina em um ambiente de atenção primária na Índia urbana.
Estudo mostra o desperdício de rotavírus vacina em uma cidade brasileira e seus custos no setor de saúde pública brasileiro.
Estudo avaliou a quantidade de desperdício de vacina. Sua correlação com o tipo de vacina e local de vacinação; com via de administração e desperdício e com beneficiários por sessão e fator de desperdício.
O estudo identificou as perdas mensais da vacina tetravalente e quantificou a importância monetária dessas perdas para o setor público brasileiro.
Estudo retrospectivo referente ao período de 2007 a 2010, analisou a distribuição de vacinas no Programa Nacional de Imunização, bem como as perdas de doses nas Unidades Básicas de Saúde de um município da região metropolitana de Curitiba (PR).
Vaccine
Períodicos Capes
Bangladesh, India, Moçambique, Uganda
Estudo para compreender os fatores, de 4 países, que influenciam no desperdício de vacinas de frascos abertos e estimou o impacto econômico da troca de frascos com menores doses.
Estados Unidos da América
WHO, 2014
WHO Policy statement: handling of multi-dose vaccine vials after opening
Externo Global
O estudo formula um processo de decisão de Markov, modelo que determina quando conservar os frascos em função da hora do dia, o inventário do frasco atual e os dias-clínica restantes até o próximo reabastecimento, visando minimizar o desperdício de frascos abertos, administrando o maior número possível de vacinas.
Resumo da Política da OMS: O uso de frascos de doses múltiplas abertas de vacina em sessões subsequentes de imunização
Quadro 1 – Descrição dos estudos selecionados na revisão da literatura: autor/ano, título, fonte de dados, local do estudo, contextualização. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil – 2018
Autor/Ano Título Fonte de dados Local do estudo Contextualização
Haidari et al., 2015
One size does not fit all: The impact of primary vaccine container size on vaccine distribution and delivery
Burton et al., 2015
Praveena et al., 2015
Patel et al., 2016
Risk of injection-site abscess among infants receiving a preservative-free, two-dose vial formulation of pneumococcal conjugate vaccine in Kenya.
Vaccine wastage assessment in a primary care setting in rural India
Vaccine wastage assessment after introduction of open vial policy in surat municipal corporation area of India
Vaccine África
Externo Kenia
Externo Índia
Pub Med central Índia, Surat
(conclusão)
Estudo desenvolveu um modelo de simulação do Programa Ampliado de Imunização da cadeia de suprimentos para a República do Benin para explorar os efeitos da diferença de frascos de várias vacinas
Estudo verificou o risco de eventos adversos após a imunização com um formato de frasco de 2 doses, livre de conservantes, da vacina Pneumocócica 10-valente.
Estudo analisou o desperdício de vacina em um ambiente de atenção primária na Índia rural.
Estudo avalia o desperdício de vacina após a introdução do OVP (Política de gestão de vacinas) e sua comparação com o estudo anterior do desperdício de vacina na cidade de Surat.
Dias, 2016
Relação entre perdas vacinais e variáveis de infraestrutura em salas de vacinação de uma cidade do Sudeste brasileiro
Patle et al., 2017
Tiwari et al., 2017
Duttagupta et al., 2017
Heaton et al., 2017
A cross sectional study of vaccine wastage assessment in a primary healthcare setting in rural central India
A study to assess vaccine wastage in an immunization clinic of tertiary care centre, Gwalior, Madhya Pradesh, India
Vaccine wastage at the level of service deli-very: a cross-sectional study
Doses per vaccine vial container: An understated and under estimated driver of performance that needs more evidence
Fonte: Elaboração própria.
Dissertação Capes Brasil, Juiz de Fora (Minas Gerais)
Externo Índia
O estudo identificou os fatores relevantes relacionados à ocorrência de perdas da vacina contra o rotavírus e da vacina tríplice viral nas salas de vacinação da área urbana de Juiz de Fora – Minas Gerais.
O estudo calculou as taxas de desperdício de vacinas na atenção primária à saúde cenário na Índia central rural.
Externo Índia
Períodicos Capes Índia, Udupi
Vaccine Global
Estudo avaliou a taxa de desperdício de vacina e o fator de desperdício de diferentes vacinas dadas aos beneficiários na clínica de imunização.
Estudo avaliou o nível de perda de cinco vacinas. Determinar se as taxas de desperdício diferem entre o tamanho do frasco e o tipo de vacinas.
Os autores realizaram uma revisão da literatura que explorou a relação entre doses por frasco e sistemas de imunização.
A maioria das referências (82,1%) foi publicada em inglês e em periódicos internacionais. Quanto à localização, destaca-se que cinco (17,8%) foram estudos brasileiros, dos quais dois são dissertações de mestrado; cinco (17,8%) artigos tinham abrangência global;
nove (32,1%) eram relativos à Índia; oito (28,5%) a diversos países; e um (3,8%) não foi explicitada a localização.
Os resultados desta revisão indicam que os estudos de desperdício de vacinas são recentes, visto que a maioria dos artigos foi publicada nos últimos cinco anos. O fato reforça que o interesse pelo tema cresceu, dada a recenticidade das publicações. Quanto à origem dos estudos, o Brasil de maneira tímida tem estudado o desperdício de vacinas, inobstante a produção científica ser majoritariamente internacional.
O foco da revisão não foi apresentar os dados quantitativos de desperdício encontrados nos estudos, mas sim o que discutem sobre o tema. Nesse contexto, resultou em cinco categorias de discussão: (1) desperdício de vacinas: vantagens e desvantagens do frasco de dose única; (2) reduzir desperdício versus restringir a abertura de um frasco de vacina; (3) segurança para vacinar versus frasco multidose e monodose; (4) política de Frasco Multidose da OMS versus desperdício de vacinas; e (5) outros fatores a serem considerados quanto ao desperdício de vacinas.
DISCUSSÃO DESPERDÍCIO DE VACINAS: VANTAGENS E DESVANTAGENS
Para compreender melhor sobre o tipo de formato de apresentação de vacinas, foi desenvolvido um método computacional nos Estados Unidos em 2009. Trata-se de um modelo para prever o potencial impacto econômico da utilização de monodose versus multidose8. Os formatos de vacinas monodose podem prevenir o desperdício clínico (dose administrada), mas podem ocasionar maior produção e eliminação de resíduos, e os custos de armazenamento podem ser maiores ao serem comparados com os formatos de multidose8
Os formatos de dose única reduzem desperdícios de frascos abertos9. Contudo, os frascos com menos doses têm logística mais onerosa10. Reforça-se que a vacina de dose única pode prevenir o desperdício, apesar de acarretar maior produção e custos de armazenamento do que os formatos multidoses8 Os frascos de dose única além de reduzir o desperdício oferecem outros benefícios, como maior segurança, e sua utilização está associada a taxas mais elevadas de cobertura vacinal9
Embora a mudança para frascos de doses menores possa reduzir o desperdício de frasco aberto, incorre em maiores custos considerando a compra, fabricação, armazenamento e entrega da vacina11. Corrobora o fato que o uso de frascos de dose única normalmente resulta em zero de desperdício de frasco aberto, porém aumenta os custos de compra, transporte e manutenção da vacina por dose, em comparação com aqueles resultantes do uso de frascos de tamanhos maiores12.
Em relação à segurança, com o formato de monodose o frasco permanece selado e protegido até a sua administração, em especial quando inclui um dispositivo de injeção integrado que oferece maior vantagem e segurança para os profissionais de saúde e diminui as chances de contaminação8 Outra vantagem dos frascos de monodose é que a entrega de dose é mais precisa. No entanto, há desvantagens em termos de aumento de volume necessário na capacidade da cadeia de frio e eliminação de resíduos13. Os frascos de dose única geram um volume total maior de resíduos médicos contaminados por dose do que os frascos multidose9. Para as vacinas líquidas, não há diferença no volume de resíduos cortantes. Para as vacinas liofilizadas, no entanto, frascos de dose única geram quase o dobro de resíduos cortantes por dose que os frascos de dez doses, pois uma segunda seringa deve ser usada para reconstituir cada dose9.
Os formatos de monodose trazem benefícios, mas também inconvenientes, em especial quando o espaço de armazenamento, transporte e a eliminação desses resíduos são limitados. Portanto, é necessário um equilíbrio entre os benefícios e os inconvenientes, conforme a realidade local8 Os estudos que avaliaram a cadeia de frio nos diferentes níveis mostraram que o uso de um frasco com menos doses apresenta um aumento das necessidades de transporte e armazenamento da cadeia de frio2,10,14,15. Apenas na Tailândia14 haveria facilidade no gerenciamento da cadeia de frio, enquanto os demais apresentaram exacerbação de sobrecarga nos sistemas logísticos.
Outro achado importante é quanto ao formato de apresentação de doses, que implica os índices de cobertura vacinal. Conforme um estudo na Austrália, a transmissão de H1N1 em 2009 cessou abruptamente devido à disponibilidade da vacina na forma dose única16. A opção de uma vacina de dose única pode ter resultado em maior aceitação pública e disponibilidade da vacina16 Embora comercialmente menos vantajosa, é necessário considerar a possibilidade de fabricação de frascos de monodose e de doses múltiplas, a depender da situação16
O uso de formatos de dose única pode simplificar o quantitativo de desperdício de vacinas, mas complicar questões logísticas de distribuição da cadeia de frio, bem como aumentar os requisitos de capacidade de armazenamento e descarte dos resíduos.
Há um aumento de desperdício de vacinas em frascos de doses múltiplas16. A maioria do desperdício ocorre no momento em que um frasco de multidose é aberto11 para imunizar um indivíduo e o restante das doses são desperdiçadas devido ao prazo de validade após abertura do frasco8. Foi demonstrado em um estudo na Tailândia que na apresentação multidose (dez doses), abria-se o frasco para utilizar algumas doses e o restante era rejeitado.
Além disso, neste estudo, ressaltou-se o risco de contaminação ao retirar repetidamente doses de um mesmo frasco14.
Frascos com mais doses estão mais propícios a maiores taxas de desperdícios e assim exigem a aquisição de mais frascos10 Altos desperdícios de vacinas resultam em maior demanda de frascos, o que leva ao suprimento excessivo de vacinas17 No entanto, restrições de capacidade de armazenamento podem impedir a solicitação de maiores quantidades, o que pode ser insuficiente para a cadeia de suprimentos10. Por consequência, os frascos de multidose podem resultar em menor disponibilidade de vacina2,10,14. Nesse contexto, o desperdício de vacinas é um fator importante na previsão das necessidades das vacinas18,19.
A falta de estoque de vacina é uma realidade conhecida e vivenciada em diversos países. A causa dessa falta de vacinas pode ser as altas taxas de desperdício, que poderiam ser reduzidas com o uso de vacinas no formato de dose única9. A prática de frascos com menos doses pode reduzir a restrição na abertura de um novo frasco, porém, o aumento de volume no transporte e armazenamento da cadeia de frio pode resultar em menos vacinas nos serviços de saúde e, por conseguinte, menos pessoas imunizadas6,20.
Com estoques de vacinas limitados, ficar sem vacina antes que o próximo reabastecimento aconteça resultará em oportunidades perdidas de vacinação20.
O gerenciamento de estoques de vacinas é complexo e, mesmo em países desenvolvidos, apresenta falhas de distribuição21
REDUZIR DESPERDÍCIO VERSUS RESTRINGIR A ABERTURA DE UM FRASCO DE VACINA
Profissionais de saúde precisam atuar estrategicamente no momento de abrir um frasco multidose, com o objetivo de alcançar a máxima utilização de doses e garantir a vacinação oportuna das crianças6. Na tentativa de reduzir desperdícios, os profissionais de saúde podem estabelecer estratégias para limitar a abertura de frascos multidose. Por exemplo, aguardar um quantitativo de crianças que justifiquem a abertura de um frasco, ou não abrir novos após determinado horário. Contudo, isso significa que podem perder oportunidades de vacinação6. Investigações sobre o surto de sarampo, na Etiópia, em 2014, revelaram que um dos contribuintes importantes para o surto foi o fato de que o frasco de vacina multidose só era aberto quando havia de seis a sete crianças presentes nas sessões de vacinação, para minimizar o desperdício22. Da mesma forma, outro surto de sarampo, em Zanzibar, em 2011, revelou a baixa taxa de vacinação devido à restrição de profissionais de saúde em abrir frascos de vacinas, preocupados com o desperdício22.
No ano de 2011, devido ao surto de sarampo, uma pesquisa do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) que obteve a resposta de 36 países, identificou que apenas 55% dos países fizeram os profissionais de saúde abrir um frasco da vacina para qualquer criança, apesar da política generalizada que qualquer criança elegível deveria ser vacinada14
A disponibilidade de vacinas contribui para aumentar a cobertura vacinal, contudo, ao mesmo tempo a pressão para reduzir o desperdício faz com que o profissional de saúde seja cauteloso em abrir um frasco multidose, o que pode causar discrepância entre disponibilidade e cobertura vacinal6. O uso de frascos de dose única elimina as preocupações dos profissionais de saúde sobre o desperdício de vacinas, que reduzem oportunidades perdidas e podem aumentar taxas de cobertura de imunização9 Infere-se que treinamento das equipes de saúde poderia reduzir perdas, já que não sofrem processos de acompanhamento nem fiscalização de suas causas21
O tamanho do frasco afeta a segurança da injeção em termos de contaminação11
A contaminação do frasco de vacina pode ocorrer por vários motivos, um deles é no momento em que uma agulha não estéril é inserida em um frasco multidose, contaminando todo o produto9. Com o uso de um frasco multidose, há risco de contaminação cada vez que uma agulha é inserida no frasco11. Embora para a OMS, ambas as apresentações — monodose ou multidose — possam ser afetadas pelo manuseio inadequado da vacina23
Presume-se que, quanto mais manipulado o frasco, maior a chance de contaminação. Assim, os frascos multidoses são menos seguros se comparados com os frascos de dose única6. Outra forma de contaminação é a prática de deixar uma agulha inserida no frasco e reutilizá-la para extrair várias doses consecutivas do mesmo frasco9. Já os frascos de dose única evitam os riscos de contaminação e reduzem a probabilidade de algumas complicações, como infecções no local da aplicação, celulite, abscesso ou, raramente, em casos mais graves, infecção sistêmica8,9,16.
Um estudo nos Estados Unidos revelou um risco 4,8 vezes maior de abscesso associado à apresentação de frasco de dez doses, comparada com a de duas doses da mesma vacina24. Além disso, frascos multidose são mais propensos a erros de volume aspirado para aplicação25 Apenas um estudo brasileiro retratou a importância de os profissionais de saúde envolvidos com a vacinação serem capacitados/atualizados sobre medidas de segurança de vacinação e controle gerencial para diminuição de perdas de vacinas1.
A OMS na “Política de frascos multidose (MDVP)” define quatro critérios que, se plenamente atendidos, permitem que os frascos de vacinas abertos sejam mantidos com garantia de segurança e eficácia por 28 dias após a abertura23. Esses critérios são os seguintes:
(1) a vacina é atualmente pré-qualificada pela OMS; (2) a vacina é aprovada para uso por até 28 dias após a abertura do frasco, conforme determinado pela OMS; (3) o prazo de validade da vacina não foi ultrapassado; e (4) o frasco da vacina foi e continuará a ser armazenado em temperaturas segundo recomendações da OMS ou do fabricante23
Em relação a vacinas pré-qualificadas pela OMS, se o monitor do frasco da vacina (VVM) estiver no rótulo da vacina, indica que o frasco uma vez aberto pode ser guardado para sessões subsequentes por até 28 dias, seja líquido ou liofilizado. Caso o monitor do frasco da vacina estiver em um local diferente do rótulo, por exemplo, na tampa ou ampola, nestes casos, o frasco de vacina uma vez aberto deve ser descartado no final da sessão de imunização ou em até seis horas após a abertura23 Um estudo brasileiro também sugere adoção de utilização de frascos com monitores para medir a exposição das vacinas identificando a conservação das mesmas25.
A OMS estima que a adesão da política de frasco aberto possa reduzir em até 30% as taxas de desperdício, o que poderia resultar em um potencial econômico mundial de cerca de US$ 40 milhões por ano23. Corrobora essa informação um estudo realizado na Índia que evidenciou menor desperdício de frascos abertos de vacinas nos locais que introduziram e seguiram a política de frasco multidose26. Outro estudo realizado no mesmo país, revelou que o desperdício de vacinas foi reduzido em 50% após a introdução dessa política, estimando uma redução financeira de US$ 0,7 milhão em campanhas de vacinação somente na cidade de Surat27
DE VACINAS
O tamanho da sessão de vacinação pode ser um dos principais determinantes do desperdício de vacinas. Para reduzir os desperdícios de frascos abertos, o número de crianças por sessão de vacina deve ser aumentado26. Isso é possível ao reduzir a frequência de salas de vacinas abertas26. Já em uma sessão de imunização com uso de frasco dose única, o tamanho da demanda é indiferente, pois não resulta em desperdício por frasco aberto12. Além disso, deve ser considerada a (falta de) infraestrutura na central de distribuição, como geradores que assegurem o funcionamento dos refrigeradores e infraestrutura nos serviços de saúde para que episódios de falta de energia não levem ao descarte de todas as vacinas1,4,28.
No Brasil, há também o pressuposto que as maiores perdas de vacinas estão associadas às regiões mais distantes do centro de distribuição de vacinas, uma vez que um estudo revelou que a data de expiração do prazo de validade foi a maior responsável pelas perdas totais da vacina analisada4
Na ausência de dados sobre taxas de desperdício, o país pode enfrentar escassez de vacinas ou ser incapaz de consumir o que recebeu19. O monitoramento de desperdício de vacinas deve ser realizado com frequência, o que pode economizar fundos significativos para um programa de imunização, bem como melhorar a qualidade e aumentar a eficácia e a cobertura vacinal3,18,19,25,29
Um estudo brasileiro descreve que os frascos multidose são mais apropriados para a rede pública por facilitar a distribuição, o armazenamento e os custos para essas ações30
No entanto, autores internacionais consideram que se deve comparar o impacto da cadeia de frio com as taxas de desperdício de vacinas. Se as taxas de desperdício de doses múltiplas forem de 50% ou maiores, então metade ou mais do volume da cadeia de frio está sendo usada de forma equivocada para vacinas que não serão aplicadas. Assim, antes de se optar por um formato, deve-se levar em consideração a análise de desperdício em doses de vacinas9,25
É necessário ampliar discussões sobre a apresentação de doses por frascos e sobre a logística da rede de frio, incluindo planejamento com os laboratórios produtores de vacinas30. Entende-se que, na realidade brasileira, a otimização de doses — reduzir o desperdício — deve ser uma prioridade do Programa Nacional de Imunizações, assim como qualificar o monitoramento do sistema de gerenciamento dos estoques com previsão estatística de demandas e perdas1,4,25,30
Esse estudo apresenta como limitador escassez na literatura que avaliam o desperdício de vacinas, sendo que grande parte dos estudos representaram análise de dados simulados, retratando a relevância do tema para futuras pesquisas. Pois, análises dos dados reais podem possibilitar comparações entre diferentes cenários e estratégias de imunização em vista da redução do desperdício de vacinas.
Foi possível sistematizar os estudos sobre desperdício de vacinas multidoses e monodoses, identificando a escassez dessa análise na literatura. Poucos países têm publicado e/ou abordado sobre essa temática. Destaca-se a Índia como o país que mais publica sobre o tema, embora muitos estudos se refiram a dados simulados e não reais. Estudos nacionais não retrataram especificações dos profissionais de enfermagem, embora essa seja categoria responsável pelas salas de vacinas. Assim, sugere-se estudos posteriores com esses profissionais que possam identificar os motivos dos desperdícios de vacinas.
Entre as conclusões, compreende-se que escolher a melhor opção para apresentação do frasco de vacina é uma tarefa complexa. Evidencia-se que devem ser criadas estratégias para redução dos desperdícios. A flexibilidade na apresentação de frasco de vacina monodose ou multidose do mesmo imunobiológico pode ser uma opção interessante para reduzir desperdícios de vacinas.
À medida que vacinas novas e mais complexas são introduzidas no calendário vacinal, aumenta o investimento financeiro dos sistemas de saúde públicos. Nesse sentido, enfatiza-se a importância do acompanhamento, monitoramento e avaliação quanto à apresentação dos frascos de vacinas que podem onerar os sistemas de imunização com um desperdício de vacinas maior do que o esperado.
1. Concepção do projeto, análise e interpretação dos dados: Scheila Mai, Roger dos Santos Rosa, Fábio Herrmann.
2. Redação do artigo e revisão crítica relevante do conteúdo intelectual: Scheila Mai, Roger dos Santos Rosa, Fábio Herrmann.
3. Revisão e/ou aprovação final da versão a ser publicada: Scheila Mai, Roger dos Santos Rosa, Fábio Herrmann.
4. Ser responsável por todos os aspectos do trabalho na garantia da exatidão e integridade de qualquer parte da obra: Scheila Mai.
1. Dias BF. Relação entre perdas vacinais e variáveis de infraestrutura em salas de vacinação de uma cidade do Sudeste brasileiro. Rio de Janeiro (RJ). Dissertação [Mestrado em Engenharia Biomédica] – Universidade Federal do Rio de Janeiro; 2016.
2. Assi TM, Brow ST, Djibo A, Norman BA, Rajgopal J, Welling JS, et al. Impact of changing the measles vaccine vial size on Niger’s vaccine supply chain: a computational model. BMC Public Health. 2011;11(1):425.
3. Tiwari R, Shatkratu D, Piyush S, Mahore R, Tiwari S. A study to assess vaccine wastage in an immunization clinic of tertiary care centre, Gwalior, Madhya Pradesh, India. Int J Res Med Sci. 2017;5(6):2472-76.
4. Novaes ML, Almeida RM, Bastos RR, Novaes MM, Novaes LM, Afonso MW et al Perdas da vacina tetravalente e seu impacto no aumento do custo unitário das doses. Rev Imunizações. 2011;4(2):9-10.
5. Brasil. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. Manual de normas e procedimentos para vacinação. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2014.
6. Heaton A, Krudwig K, Lorenson T, Burgess C, Cunningham A, Steinglass R. Doses per vaccine vial container: An understated and underestimated driver of performance that needs more evidence. Vaccine. 2017;35(17):2272-78.
7. Souza MT, Silva MD, Carvalho R. Revisão integrativa: o que é e como fazer. Einstein. 2010;8(1):102-6.
8. Lee BY, Norman BA, Assi TM, Chen SI, Bailey RR, Rajgopal J et al. Single versus multi-dose vaccine vials: na economic computation model. Vaccine. 2010;28( 32):5292-5300.
9. Drain PK, Nelson CM, Lloyd JS. Single dose versus multi-dose vaccine vials for immunization programmes in developing countries. Bull World Health Organ. 2003;81(10):726-33.
10. Haidari LA, Wahl B, Brown ST, Privor-Dumm L, Stokes CW, Gorham K et al One size does not fit all: the impact of primary vaccine container size on vaccine distribution and delivery. Vaccine. 2015;33(28):3242-7.
11. Yang W, Parisi M, Lahue BJ, Uddin J, Bishai D. The budget impact of controlling wastage with smaller vials: A data driven model of session sizes in Bangladesh, India (Uttar Pradesh), Mozambique, and Uganda. Vaccine. 2014;32(49):6643-8.
12. Dhamodharan A, Proano RA. Determining the optimal vaccine vial size in developing countries: a Monte Carlo simulation approach. Health Care Manag Sci. 2012;15(3):188-96.
13. Praveena DA, Selvaraj K, Veerakuma AM, Nair D, Ramaswamy G, Chinnakali P. Vaccine wastage assessment in a primary care setting in rural India. Ind J Contemp Pediatri. 2015;2(1):7-11.
14. Lee BY, Assi TM, Rookkapan K, Connor DL, Rajgopal J, Sornsrivichai V et al. Replacing the measles tenn-dose vaccine presentation with the single-dose presentation in thailand. Vaccine. 2011;29(21): 3811-17.
15. Parmar D, Baruwa EM, Zuber P, Kone S. Impact of wastage on single and multi-dose vaccine vials: implications for introducing pneumococcal vaccines in developing countries. Hum Vaccin. 2010;6 (3):270-78.
16. Gosbell IB, Gottlieb T, Kesson AM, Post JJ, Dwyer DE. Immunisation and multi-dose vials. Vaccine. 2010;28(40):6556-61.
17. Duttagupta C, Bhattacharyya D, Narayanan P, Pattanshetty SM. Vaccine wastage at the level of service delivery: a cross-sectional study. Public Health. 2017;148:63-5.
18. Patle L, Adikane H, Dadasaheb D, Surwase K, Gogulwar, S. A Cross Sectional Study of Vaccine Wastage Assessment in A Primary Health Care Setting in Rural Central India. Sch J App Med Sci. 2017; 5(8):3411-15.
19. Mehta S, Umregar P, Patel P, Bansal RK. Evaluation of vaccine wastage in Surat. Natl J Community Medicine. 2013;4(1):15-9.
20. Mofrad MH, Garcia GG, Maillart LM, Norman BA, Rajgopal J. Dynamically optimizing the administration of vaccines from multi-dose vials. IISE Trans. 2016;46(7):623-35.
21. Novaes MLO, Almeida RMVR, Bastos RR, Figueiredo BB, Centellas CDR, Rangel JMC, et al Caracterização das perdas da vacina contra rotavírus e de seus custos associados. In: Anais do XXIII Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica; 2012 out 1-5; Porto de Galinhas (PE), Brasil. Porto de Galinhas (PE): CBEB; 2012.
22. World Health Organization. Summary report on the investigation of recurrent measles outbreaks in SNNPR, Ethiopia March April 2014. Draft 2014 [Unpublished].
23. World Health Organization. WHO policy statement: multi-dose vial policy (MDVP) – handling of multi-dose vaccine vials after opening. World Health Organization; 2014.
24. Burton A, Monasch R, Lautenbach B, Gacic-Dobo M, Neill M, Karimov et al WHO and UNICEF estimates of national infant immunization coverage: methods and processes. Bull World Health Organ. 2009;87(7):535-41.
25. Pereira CC, Bishai D. Vaccine presentation in theUSA: economics of prefilledsyringes versus multidose vialsfor influenza vaccination. Expert Rev Vaccines. 2010;9(11):343-49.
26. Guichard S, Hymbaugh K, Burkholder B, Diorditsa S, Navarro C, Ahmed S, et al. Vaccine wastage in Bangladesh. Vaccine. 2010;28(3):858-63.
27. Patel PB, Rana JJ, Jangid SG, Bavarva NR, Patel MJ, Bansal RK.Vaccine Wastage Assessment After Introduction of Open Vial Policy in Surat Municipal Corporation Area of India. Int J Health Policy Manag. 2016;5(4):233-36.
28. Pereira DDS, Neves EB, Gemelli M, Ulbricht L. Análise da taxa de utilização e perda de vacinas no programa nacional de imunização. Cad Saúde Colet. 2013;21(4):420-24.
29. Chinnakali P, Kulkarni V, Kalaiselvi S, Nongkynrih B. Vaccine wastage assessment in a primary care setting in urban India. J Pediatr Sci. 2012;4(1):e119
30. Samad S. Perdas de vacinas: razões e prevalência em quatro unidades federadas do Brasil. São Paulo (SP). Dissertação [Mestrado Profissional em Efetividade em Saúde Baseada em Evidências] – Universidade Federal de São Paulo; 2011.
Recebido: 19.5.2019. Aprovado: 24.5.2022.
A Revista Baiana de Saúde Pública (RBSP), publicação oficial da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), de periodicidade trimestral, publica contribuições sobre aspectos relacionados aos problemas de saúde da população e à organização dos serviços e sistemas de saúde e áreas correlatas. São aceitas para publicação as contribuições escritas preferencialmente em português, de acordo com as normas da RBSP, obedecendo a ordem de aprovação pelos editores. Os trabalhos são avaliados por pares, especialistas nas áreas relacionadas aos temas referidos.
Os manuscritos devem destinar-se exclusivamente à RBSP, não sendo permitida sua apresentação simultânea a outro periódico, tanto no que se refere ao texto como às ilustrações e tabelas, quer na íntegra ou parcialmente. Os artigos publicados serão de propriedade da revista, ficando proibida a reprodução total ou parcial em qualquer meio de divulgação, impresso ou eletrônico, sem a prévia autorização da RBSP. Devem ainda referenciar artigos sobre a temática publicados nesta Revista.
1 Artigos Temáticos: revisão crítica ou resultado de pesquisa de natureza empírica, experimental ou conceitual sobre um assunto em pauta, definido pelo Conselho Editorial (10 a 20 páginas).
2 Artigos Originais de Tema Livre:
2.1 pesquisa: artigos apresentando resultados finais de pesquisas científicas (10 a 20 páginas);
2.2 ensaios: artigos com análise crítica sobre um tema específico (5 a 8 páginas);
2.3 revisão: artigos com revisão crítica de literatura sobre tema específico, solicitados pelos editores (8 a 15 páginas).
3 Comunicações: informes de pesquisas em andamento, programas e relatórios técnicos (5 a 8 páginas).
4 Teses e dissertações: resumos de dissertações de mestrado e teses de doutorado/ livre docência defendidas e aprovadas em universidades brasileiras (máximo 2 páginas). Os resumos devem ser encaminhados com o título oficial da tese/ dissertação, dia e local da defesa, nome do orientador e local disponível para consulta.
5 Resenha de livros: livros publicados sobre temas de interesse, solicitados pelos editores (1 a 4 páginas).
6 Relato de experiência: apresentando experiências inovadoras (8 a 10 páginas).
7 Carta ao editor: comentários sobre material publicado (2 páginas).
8 Documentos: de órgãos oficiais sobre temas relevantes (8 a 10 páginas).
De responsabilidade dos editores, pode também ser redigido por um convidado, mediante solicitação do editor geral (1 a 3 páginas).
ITENS DE VERIFICAÇÃO PARA SUBMISSÃO
Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a conformidade da submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As submissões que não estiverem de acordo com as normas serão devolvidas aos autores.
Os trabalhos a serem apreciados pelos editores e revisores seguirão a ordem de recebimento e deverão obedecer aos seguintes critérios de apresentação:
a) todas as submissões devem ser enviadas por meio do Sistema Eletrônico de Editoração de Revista (SEER). Preenchimento obrigatório dos metadados, sem os quais o artigo não seguirá para avaliação;
b) as páginas do texto devem ser formatadas em espaço 1,5, com margens de 2 cm, fonte Times New Roman, tamanho 12, página padrão A4, numeradas no canto superior direito;
c) os desenhos ou fotografias digitalizadas devem ser encaminhados em arquivos separados;
d) o número máximo de autores por manuscrito científico é de seis (6).
ARTIGOS
Folha de rosto/Metadados: informar o título (com versão em inglês e espanhol), nome(s) do(s) autor(es), principal vinculação institucional de cada autor, órgão(s) financiador(es) e endereço postal e eletrônico de um dos autores para correspondência.
Segunda folha/Metadados: iniciar com o título do trabalho, sem referência a autoria, e acrescentar um resumo de no máximo 200 palavras, com versão em inglês (Abstract) e espanhol (Resumen). Trabalhos em espanhol ou inglês devem também apresentar resumo em português.
Palavras-chave (3 a 5) extraídas do vocabulário DeCS (Descritores em Ciências da Saúde/ www. decs.bvs.br) para os resumos em português e do MESH (Medical Subject Headings/ www.nlm. nih.gov/mesh) para os resumos em inglês.
Terceira folha: título do trabalho sem referência à autoria e início do texto com parágrafos alinhados nas margens direita e esquerda (justificados), observando a sequência: introdução – conter justificativa e citar os objetivos no último parágrafo; material e métodos; resultados, discussão, conclusão ou
considerações finais (opcional) e referências. Digitar em página independente os agradecimentos, quando necessários, e as contribuições individuais de cada autor na elaboração do artigo.
Os resumos devem ser apresentados nas versões português, inglês e espanhol. Devem expor sinteticamente o tema, os objetivos, a metodologia, os principais resultados e as conclusões. Não incluir referências ou informação pessoal.
Obrigatoriamente, os arquivos das ilustrações (quadros, gráficos, fluxogramas, fotografias, organogramas etc.) e tabelas devem ser encaminhados em arquivo independente; suas páginas não devem ser numeradas. Estes arquivos devem ser compatíveis com o processador de texto “Microsoft Word” (formatos: PICT, TIFF, GIF, BMP).
O número de ilustrações e tabelas deve ser o menor possível. As ilustrações coloridas somente serão publicadas se a fonte de financiamento for especificada pelo autor.
Na seção resultados, as ilustrações e tabelas devem ser numeradas com algarismos arábicos, por ordem de aparecimento no texto, e seu tipo e número destacados em negrito (e.g. “[...] na Tabela 2 as medidas [...]).
No corpo das tabelas, não utilizar linhas verticais nem horizontais; os quadros devem ser fechados.
Os títulos das ilustrações e tabelas devem ser objetivos, situar o leitor sobre o conteúdo e informar a abrangência geográfica e temporal dos dados, segundo Normas de Apresentação Tabular do IBGE (e.g.: Gráfico 2 – Número de casos de aids por região geográfica. Brasil – 1986-1997).
Ilustrações e tabelas reproduzidas de outras fontes já publicadas devem indicar esta condição após o título.
Trabalho que resulte de pesquisa envolvendo seres humanos ou outros animais deve vir acompanhado de cópia escaneada de documento que ateste sua aprovação prévia por um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), além da referência na seção Material e Métodos.
Preferencialmente, qualquer tipo de trabalho encaminhado (exceto artigo de revisão) deverá listar até 30 fontes.
As referências no corpo do texto deverão ser numeradas em sobrescrito, consecutivamente, na ordem em que sejam mencionadas a primeira vez no texto.
As notas explicativas são permitidas, desde que em pequeno número, e devem ser ordenadas por letras minúsculas em sobrescrito. As referências devem aparecer no final do trabalho, listadas pela ordem de citação, alinhadas apenas à esquerda da página, seguindo as regras propostas pelo Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas (Requisitos Uniformes para Manuscritos apresentados a periódicos biomédicos/Vancouver), disponíveis em http://www.icmje.org ou http://www.abeceditores.com.br.
Quando os autores forem mais de seis, indicar apenas os seis primeiros, acrescentando a expressão et al.
Exemplos:
a) LIVRO
Acha PN, Szyfres B. Zoonosis y enfermedades transmisibles comunes al hombre y a los animales.
2ª ed. Washington (DC): Organizacion Panamericana de la Salud; 1989.
b) CAPÍTULO DE LIVRO
Almeida JP, Rodriguez TM, Arellano JLP. Exantemas infecciosos infantiles. In: Arellano JLP, Blasco AC, Sánchez MC, García JEL, Rodríguez FM, Álvarez AM, editores. Guía de autoformación en enfermedades infecciosas. Madrid: Panamericana; 1996. p. 1155-68.
c) ARTIGO
Azevêdo ES, Fortuna CMM, Silva KMC, Sousa MGF, Machado MA, Lima AMVMD, et al. Spread and diversity of human populations in Bahia, Brazil. Hum Biol. 1982;54:329-41.
d) TESE E DISSERTAÇÃO
Britto APCR. Infecção pelo HTLV-I/II no estado da Bahia [Dissertação]. Salvador (BA): Universidade Federal da Bahia; 1997.
e) RESUMO PUBLICADO EM ANAIS DE CONGRESSO
Santos-Neto L, Muniz-Junqueira I, Tosta CE. Infecção por Plasmodium vivax não apresenta disfunção endotelial e aumento de fator de necrose tumoral-α (FNT-α) e interleucina-1α (IL-1α). In: Anais do 30º Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Salvador, Bahia; 1994. p. 272.
f) DOCUMENTOS EXTRAÍDOS DE ENDEREÇO DA INTERNET
Comissão de Residência Médica do Hospital Universitário Professor Edgard Santos da Universidade Federal da Bahia. Regimento Interno da Coreme. Extraído de [http://www.hupes. ufba.br/coreme], acesso em [20 de setembro de 2001].
Não incluir nas Referências material não publicado ou informação pessoal. Nestes casos, assinalar no texto: (i) Antunes Filho FF, Costa SD: dados não publicados; ou (ii) Silva JA: comunicação pessoal, 1997. Todavia, se o trabalho citado foi aceito para publicação, incluí-lo entre as referências, citando os registros de identificação necessários (autores, título do trabalho ou livro e periódico ou editora), seguido da expressão latina In press e o ano.
Quando o trabalho encaminhado para publicação tiver a forma de relato de investigação epidemiológica, relato de fato histórico, comunicação, resumo de trabalho final de curso de pós-graduação, relatórios técnicos, resenha bibliográfica e carta ao editor, o(s) autor(es) deve(m) utilizar linguagem objetiva e concisa, com informações introdutórias curtas e precisas, delimitando o problema ou a questão objeto da investigação. Seguir as orientações para referências, ilustrações e tabelas.
As contribuições encaminhadas só serão aceitas para apreciação pelos editores e revisores se atenderem às normas da revista.
Endereço para contato:
Revista Baiana de Saúde Pública Centro de Atenção à Saúde (CAS)
Av. Antônio Carlos Magalhães
Parque Bela Vista, Salvador – Bahia – Brasil
CEP 40.280-000
E-mail: rbsp.saude@saude.ba.gov.br
http://rbsp.sesab.ba.gov.br
Endereço para submissão de artigos:
http://rbsp.sesab.ba.gov.br/index.php/rbsp
The Public Health Journal of Bahia (RBSP), a quarterly official publication of the Health Secretariat of the State of Bahia (Sesab), publishes contributions on aspects related to population’s health problems, health system services and related areas. It accepts for publication written contributions, preferably in Portuguese, according to the RBSP standards, following the order of approval by the editors. Peer experts in the areas related to the topics in question evaluate the papers.
The manuscripts must be exclusively destined to RBSP, not being allowed its simultaneous submission to another periodical, neither of texts nor illustrations and charts, in part or as a whole. The published articles belong to the journal. Thus, the copyright of the article is transferred to the Publisher. Therefore, it is strictly forbidden partial or total copy of the article in the mainstream and electronic media without previous authorization from the RBSP. They must also mention articles about the topics published in this Journal.
1 Theme articles: critical review or result from empirical, experimental or conceptual research about a current subject defined by the editorial council (10 to 20 pages).
2 Free theme original articles:
2.1 research: articles presenting final results of scientific researches (10 to 20 pages);
2.2 essays: articles with a critical analysis on a specific topic (5 to 8 pages);
2.3 review: articles with a critical review on literature about a specific topic, requested by the editors (8 to 15 pages).
3 Communications: reports on ongoing research, programs and technical reports (5 to 8 pages).
4 Theses and dissertations: abstracts of master degree’ dissertations and doctorate thesis/ licensure papers defended and approved by Brazilian universities (2 pages maximum). The abstracts must be sent with the official title, day and location of the thesis’ defense, name of the counselor and an available place for reference.
5 Book reviews: Books published about topics of current interest, as requested by the editors (1 to 4 pages).
6 Experiments’ report: presenting innovative experiments (8 to 10 pages).
7 Letter to the editor: comments about published material (2 pages).
8 Documents: of official organization about relevant topics (8 to 10 pages).
The editors are responsible for the editorial, however a guest might also write it if the general editor asks him/her to do it (1 to 3 pages).
As part of the submission process all the authors are supposed to verify the submission guidelines in relation to the items that follow. The submissions that are not in accordance with the rules will be sent back to the authors.
The editors must evaluate the papers and the revisers will follow the order of receipt and shall abide by the following criteria of submission:
a) all the submissions must be made by the publisher online submission system (SEER). The metadata must be filled in. Failure to do so will result in the nonevaluation of the article;
b) the text pages must be formatted in 1.5 spacing, with 2 cm margins, Times New Roman typeface, font size 12, A4 standard page, numbered at top right;
c) drawings and digital pictures will be forwarded in separate files;
d) the maximum number of authors per manuscript is six (6).
Cover sheet/Metadata: inform the title (with an English and Spanish version), name(s) of the author(s), main institutional connection of each author, funding organization(s) and postal and electronic address of one of authors for correspondence.
Second page/Metadata: Start with the paper’s title, without reference to authorship and add an abstract of up to 200 words, followed with English (Abstracts) and Spanish (Resumen) versions. Spanish and English papers must also present an abstract in Portuguese. Keywords (3 to 5) extracted from DeCS (Health Science Descriptors at www.decs.bvs.br) for the abstracts in Portuguese and from MESH (Medical Subject Headings at www.nlm.nih.gov/mesh) for the abstracts in English.
Third page: paper’s title without reference to authorship and beginning of the text with paragraphs aligned to both right and left margins (justified), observing the following sequence: introduction –containing justification and mentioning the objectives in the last paragraph; material and methods; results, discussion, conclusion or final considerations (optional) and references. Type in the acknowledgement on an independent page whenever necessary, and the individual contribution of each author when elaborating the article.
The abstracts must be presented in the Portuguese, English and Spanish versions. They must synthetically expose the topic, objectives, methodology, main results and conclusions. It must not include personal references or information.
The files of the illustrations (charts, graphs, flowcharts, photographs, organization charts etc.) and tables must forcibly be independent; their pages must not be numbered. These files must be compatible with “Microsoft Word” word processor (formats: PICT, TIFF, GIF, BMP).
Colored illustration will only be published if the author specifies the funding source.
On the results section illustrations and tables must be numbered with Arabic numerals, ordered by appearance in the text, and its type and number must be highlighted in bold (e.g. “[...] on Table 2 the measures […]).
On the body of tables use neither vertical nor horizontal lines; the charts must be framed.
The titles of the illustrations and tables must be objective, contextualize the reader about the content and inform the geographical and time scope of the data, according to the Tabular Presentation Norms of IBGE (e.g.: Graph 2 – Number of Aids cases by geographical region. Brazil – 1986-1997).
Illustrations and tables reproduced from already published sources must have this condition informed after the title.
Paper that results from research involving human beings or other animals must be followed by a scanned document, which attests its previous approval by a Research Ethic Committee (REC), in addition to the reference at the Material and Methods Section.
Preferably, any kind of paper sent (except review article) must list up to 30 sources.
The references in the body of the text must be consecutively numbered in superscript, in the order that they are mentioned for the first time.
Explanatory notes are allowed, provided that in small number and low case letters in superscript must order them.
References must appear at the end of the work, listed by order of appearance, aligned only to the left of the page, following the rules proposed by the International Committee of Medical Journal Editors (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals/ Vancouver), available at http://www.icmje.org or http://www.abec-editores.com.br.
When there are more than six authors, indicate only the first six, adding the expression et al.
Examples:
a) BOOK
Acha PN, Szyfres B. Zoonosis y enfermedades transmisibles comunes al hombre y a los animales. 2ª ed. Washington (DC): Organizacion Panamericana de la Salud; 1989.
b) BOOK CHAPTER
Almeida JP, Rodriguez TM, Arellano JLP. Exantemas infecciosos infantiles. In: Arellano JLP, Blasco AC, Sánchez MC, García JEL, Rodríguez FM, Álvarez AM, editores. Guía de autoformación en enfermedades infecciosas. Madrid: Panamericana; 1996. p. 1155-68.
c) ARTICLE
Azevêdo ES, Fortuna CMM, Silva KMC, Sousa MGF, Machado MA, Lima AMVMD, et al. Spread and diversity of human populations in Bahia, Brazil. Hum Biol. 1982;54:329-41.
d) THESIS AND DISSERTATION
Britto APCR. Infecção pelo HTLV-I/II no estado da Bahia [Dissertação]. Salvador (BA): Universidade Federal da Bahia; 1997.
e) ABSTRACT PUBLISHED IN CONFERENCE ANNALS
Santos-Neto L, Muniz-Junqueira I, Tosta CE. Infecção por Plasmodium vivax não apresenta disfunção endotelial e aumento de fator de necrose tumoral-α (FNT-α) e interleucina-1α (IL-α). In: Anais do 30º Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Salvador, Bahia; 1994. p. 272.
f) DOCUMENTS OBTAINED FROM INTERNET ADDRESS
Comissão de Residência Médica do Hospital Universitário Professor Edgard Santos da Universidade Federal da Bahia. Regimento Interno da Coreme. Extraído de [http://www. hupes. ufba.br/coreme], acesso em [20 de setembro de 2001].
Do not include unpublished material or personal information in the References. In such cases, indicate it in the text: (i) Antunes Filho FF, Costa SD: unpublished data; or Silva JA: personal communication, 1997. However, if the mentioned material was accepted for publication, include it in the references, mentioning the required identification entries (authors, title of the
paper or book and periodical or editor), followed by the Latin expression In press, and the year.
When the paper directed to publication have the format of an epidemiological research report, historical fact report, communication, abstract of post-graduate studies’ final paper, technical report, bibliographic report and letter to the editor, the author(s) must use a direct and concise language, with short and precise introductory information, limiting the problem or issue object of the research. Follow the guidelines for the references, illustrations and tables.
The editors and reviewers will only accept the contribution sent for evaluation if they comply with the standards of the journal.
Contact us
Address:
Centro de Atenção à Saúde (CAS)
Av. Antônio Carlos Magalhães
Parque Bela Vista, Salvador – Bahia – Brasil
CEP 40.280-000
E-mail: rbsp.saude@saude.ba.gov.br http://rbsp.sesab.ba.gov.br
To submit an article access: http://rbsp.sesab.ba.gov.br/index.php/rbsp
La Revista Baiana de Salud Pública (RBSP), publicación oficial de la Secretaria de la Salud del Estado de la Bahia (Sesab), de periodicidad trimestral, publica contribuciones sobre aspectos relacionados a los problemas de salud de la población y a la organización de los servicios y sistemas de salud y áreas correlatas. Son aceptas para publicación las contribuciones escritas preferencialmente en portugués, de acuerdo con las normas de la RBSP, obedeciendo la orden de aprobación por los editores. Los trabajos son evaluados por pares, especialistas en las áreas relacionadas a los temas referidos.
Los manuscritos deben destinarse exclusivamente a la RBSP, no siendo permitida su presentación simultánea a otro periódico, tanto en lo que se refiere al texto como a las ilustraciones y tablas, sea en la íntegra o parcialmente. Los artículos publicados serán de propiedad de la revista, quedando prohibida la reproducción total o parcial en cualquier soporte (impreso o electrónico), sin la previa autorización de la RBSP. Deben, también, hacer referencia a artículos sobre la temática publicados en esta Revista.
1 Artículos Temáticos: revisión crítica o resultado de investigación de naturaleza empírica, experimental o conceptual sobre un asunto en pauta, definido por el Consejo Editorial (10 a 20 hojas).
2 Artículos originales de tema libre:
2.1 investigación: artículos presentando resultados finales de investigaciones científicas (10 a 20 hojas);
2.2 ensayos: artículos con análisis crítica sobre un tema específico (5 a 8 hojas);
2.3 revisión: artículos con revisión crítica de literatura sobre tema específico, solicitados por los editores (8 a 15 hojas).
3 Comunicaciones: informes de investigaciones en andamiento, programas e informes técnicos (5 a 8 hojas).
4 Tesis y disertaciones: resúmenes de tesis de maestría y tesis de doctorado/ libre docencia defendidas y aprobadas en universidades brasileñas (máximo 2 hojas). Los resúmenes deben ser encaminados con el título oficial de la tesis, día y local de la defensa, nombre del orientador y local disponible para consulta.
5 Reseña de libros: libros publicados sobre temas de interés, solicitados por los editores (1 a 4 hojas).
6 Relato de experiencias: presentando experiencias innovadoras (8 a 10 hojas).
7 Carta al editor: comentarios sobre material publicado (2 hojas).
8 Documentos: de organismos oficiales sobre temas relevantes (8 a 10 hojas).
De responsabilidad de los editores, también puede ser redactado por un invitado, mediante solicitación del editor general (1 a 3 páginas).
ITEM DE VERIFICACIÓN PARA SUMISIÓN
Como parte del proceso de sumisión, los autores son obligados a verificar la conformidad de la sumisión en relación a todos los item descritos a seguir. Las sumisiones que no estén de acuerdo con las normas serán devueltas a los autores.
Los trabajos apreciados por los editores y revisores seguirán la orden de recibimiento y deberán obedecer a los siguientes criterios de presentación:
a) todos los trabajos deben ser enviados a través del Sistema de Publicación Electrónica de Revista (SEER). Completar obligatoriamente los metadatos, sin los cuales el artículo no será encaminado para evaluación;
b) las páginas deben ser formateadas en espacio 1,5, con márgenes de 2 cm, fuente Times New Roman, tamaño 12, página patrón A4, numeradas en el lado superior derecho;
c) los diseños o fotografías digitalizadas serán encaminadas en archivos separados;
d) el número máximo de autores por manuscrito científico es de seis (6).
Página de capa/Metadatos: informar el título (con versión en inglés y español), nombre(s) del(los) autor(es), principal vinculación institucional de cada autor, órgano(s) financiador(es) y dirección postal y electrónica de uno de los autores para correspondencia.
Segunda página/Metadatos: iniciada con el título del trabajo, sin referencia a la autoría, y agregar un resumen de 200 palabras como máximo, con versión en inglés (Abstract) y español (Resumen). Trabajos en español o inglés deben también presentar resumen en portugués. Palabras clave (3 a 5) extraídas del vocabulario DeCS (Descritores en Ciências da Saúde/ www. decs.bvs.br) para los resúmenes en portugués y del MESH (Medical Subject Headings/ www. nlm.nih.gov/mesh) para los resúmenes en inglés.
Tercera página: título del trabajo sin referencia a la autoría e inicio del texto con parágrafos alineados en las márgenes derecha e izquierda (justificados), observando la secuencia: introducción – contener justificativa y citar los objetivos en el último parágrafo; material y métodos; resultados, discusión, conclusión o consideraciones finales (opcional) y referencias. Digitar en página independiente los agradecimientos, cuando sean necesarios, y las contribuciones individuales de cada autor en la elaboración del artículo.
Los resúmenes deben ser presentados en las versiones portugués, inglés y español. Deben exponer sintéticamente el tema, los objetivos, la metodología, los principales resultados y las conclusiones. No incluir referencias o información personal.
Obligatoriamente, los archivos de las ilustraciones (cuadros, gráficos, diagrama de flujo, fotografías, organigramas etc.) y tablas deben ser independientes; sus páginas no deben ser numeradas. Estos archivos deben ser compatibles con el procesador de texto “Microsoft Word” (formatos: PICT, TIFF, GIF, BMP).
El número de ilustraciones y tablas debe ser el menor posible. Las ilustraciones coloridas solamente serán publicadas si la fuente de financiamiento sea especificada por el autor.
En la sección de resultados, las ilustraciones y tablas deben ser enumeradas con numeración arábiga, por orden de aparecimiento en el texto, y su tipo y número destacados en negrita (e.g. “[...] en la Tabla 2 las medidas [...]).
En el cuerpo de las tablas, no utilizar líneas verticales ni horizontales; los cuadros deben estar cerrados.
Los títulos de las ilustraciones y tablas deben ser objetivos, situar al lector sobre el contenido e informar el alcance geográfico y temporal de los datos, según Normas de Presentación de Tablas del IBGE (e.g.: Gráfico 2 – Número de casos de SIDA por región geográfica. Brasil – 1986-1997).
Ilustraciones y tablas reproducidas de otras fuentes ya publicadas deben indicar esta condición después del título.
Trabajo resultado de investigación envolviendo seres humanos u otros animales debe venir acompañado con copia escaneada de documento que certifique su aprobación previa por un Comité de Ética en Investigación (CEP), además de la referencia en la sección Material y Métodos.
REFERENCIAS
Preferencialmente, cualquier tipo de trabajo encaminado (excepto artículo de revisión) deberá listar un máximo de 30 fuentes.
Las referencias en el cuerpo del texto deberán ser enumeradas en sobrescrito, consecutivamente, en el orden en que sean mencionadas la primera vez en el texto.
Las notas explicativas son permitidas, desde que en pequeño número, y deben ser ordenadas por letras minúsculas en sobrescrito.
Las referencias deben aparecer al final del trabajo, listadas en orden de citación, alineadas apenas a la izquierda de la página, siguiendo las reglas propuestas por el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas (Requisitos uniformes para manuscritos presentados a periódicos biomédicos/ Vancouver), disponibles en http://www.icmje.org o http://www.abeceditores. com.br.
Cuando los autores sean más de seis, indicar apenas los seis primeros, añadiendo la expresión et al.
Ejemplos:
a) LIBRO
Acha PN, Szyfres B. Zoonosis y enfermedades transmisibles comunes al hombre y a los animales.
2ª ed. Washington (DC): Organización Panamericana de la Salud; 1989.
b) CAPÍTULO DE LIBRO
Almeida JP, Rodriguez TM, Arellano JLP. Exantemas infecciosos infantiles. In: Arellano JLP, Blasco AC, Sánchez MC, García JEL, Rodríguez FM, Álvarez AM, editores. Guía de autoformación en enfermedades infecciosas. Madrid: Panamericana; 1996. p. 1155-68.
c) ARTÍCULO
Azevêdo ES, Fortuna CMM, Silva KMC, Sousa MGF, Machado MA, Lima AMVMD, et al. Spread and diversity of human populations in Bahia, Brazil. Hum Biol. 1982;54:329-41.
d) TESIS Y DISERTACIÓN
Britto APCR. Infecção pelo HTLV-I/II no estado da Bahia [Dissertação]. Salvador (BA): Universidade Federal da Bahia; 1997.
e) RESUMEN PUBLICADO EN ANALES DE CONGRESO
Santos-Neto L, Muniz-Junqueira I, Tosta CE. Infecção por Plasmodium vivax não apresenta disfunção endotelial e aumento de fator de necrose tumoral-α (FNT-α) e interleucina-1α (IL-1α). In: Anais do 30º Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Salvador, Bahia; 1994. p. 272.
f) DOCUMENTOS EXTRAIDOS DE SITIOS DE LA INTERNET
Comissão de Residência Médica do Hospital Universitário Professor Edgard Santos da Universidade Federal da Bahia. Regimento Interno da Coreme. Extraído de [http://www.hupes. ufba.br/coreme], acesso em [20 de setembro de 2001].
No incluir en las Referencias material no publicado o información personal. En estos casos, indicar en el texto: (i) Antunes Filho FF, Costa SD: datos no publicados; o (ii) Silva JA: comunicación personal, 1997. Sin embargo, si el trabajo citado es acepto para publicación, incluirlo entre las referencias, citando los registros de identificación necesarios (autores, título del trabajo o libro y periódico o editora), seguido de la expresión latina In press y el año.
Cuando el trabajo encaminado para publicación tenga la forma de relato de investigación epidemiológica, relato de hecho histórico, comunicación, resumen de trabajo final de curso de postgraduación, informes técnicos, reseña bibliográfica y carta al editor, el(los) autor(es) debe(n) utilizar lenguaje objetiva y concisa, con informaciones introductorias cortas y precisas, delimitando el problema o la cuestión objeto de la investigación. Seguir las orientaciones para referencias, ilustraciones y tablas.
Las contribuciones encaminadas a los editores y revisores, solo serán aceptadas para apreciación si atienden las normas de la revista.
Dirección para contacto:
Revista Baiana de Saúde Pública Centro de Atenção à Saúde (CAS)
Av. Antônio Carlos Magalhães
Parque Bela Vista, Salvador – Bahia – Brasil
CEP 40.280-000
E-mail: rbsp.saude@saude.ba.gov.br
http://rbsp.sesab.ba.gov.br
Dirección para envío de artículos: http://rbsp.sesab.ba.gov.br/index.php/rbsp
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA – SESAB
REVISTA BAIANA DE SAÚDE PÚBLICA – RBSP
Centro de Atenção à Saúde (CAS) – Av. Antônio Carlos Magalhães
Parque Bela Vista, Salvador – Bahia – Brasil
CEP 40.280-000
E-mail: rbsp.saude@saude.ba.gov.br
http://rbsp.sesab.ba.gov.br
Recebemos e agradecemos | Nous avons reçu | We have received
Desejamos receber | Il nous manque | We are in want of

Enviamos em troca | Nou envoyons en enchange | We send you in exchange
Favor devolver este formulário para assegurar a remessa das próximas publicações. Please fill blank and retourn it to us in order to assure the receiving of the next issues. On prie da dévolution de ce formulaire pour étre assuré l’envoi des prochaines publications.

ARTIGO ORIGINAL DE TEMA LIVRE TRADUÇÃO, ADAPTAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES PSICOMÉTRICAS DA AROUSAL PREDISPOSITION SCALE EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES FORÇA DE PREENSÃO MANUAL EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS COM DOENÇAS OSTEOARTICULARES CONDIÇÕES SANITÁRIAS RELACIONADAS À MORADIA EM UMA COMUNIDADE RURAL DO VALE DO JIQUIRIÇÁ (BA)

PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM UMA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL: EM BUSCA DE UM CUIDADO INTEGRAL EPIDEMIOLOGIA DAS HEPATITES VIRAIS NO BRASIL VIVÊNCIAS RELACIONADAS AO ALEITAMENTO MATERNO E SUA INTERRUPÇÃO PRECOCE: ESTUDO QUALITATIVO COM NUTRIZES MENINGITE INFANTOJUVENIL NA BAHIA: UMA ABORDAGEM EPIDEMIOLÓGICA – 2007 A 2018
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E DEMOGRÁFICAS DOS PACIENTES COM ENDOCARDITE INFECCIOSA EM UM SERVIÇO DE CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA
ANÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO, DEMOGRÁFICO E EPIDEMIOLÓGICO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA (BA)
O CUIDADO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: REPRESENTAÇÃO SOCIAL DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE USO DE TEORIAS E METODOLOGIAS PARA ATUAÇÃO COM GRUPOS NA ATENÇÃO BÁSICA
TENDÊNCIA DA MORTALIDADE POR TUBERCULOSE EM ADULTOS DE DEZ CAPITAIS BRASILEIRAS, 1996-2018
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA MORTALIDADE POR HOMICÍDIOS INTENCIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, PARAÍBA, 2011-2016
HETEROGENEIDADE NAS CAUSAS DE MORTE DA POPULAÇÃO IDOSA DA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL
EPIDEMIOLOGIA DAS CIRURGIAS TRAUMATO-ORTOPÉDICAS EM DOIS HOSPITAIS DO EXTREMO SUL DO BRASIL
COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO AMAZONAS TÊM CONHECIMENTO SOBRE CÁRIE DENTÁRIA: RESULTADO DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL ARTIGO DE REVISÃO
UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA NACIONAL E INTERNACIONAL SOBRE REFUGIADOS
PERCEPÇÃO DO ENFERMEIRO NA SEGURANÇA DO PACIENTE NO SETOR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: UMA REVISÃO DE LITERATURA DESPERDÍCIO DE VACINAS: UMA REVISÃO DA LITERATURA