

ENDEREÇO Address Dirección



ENDEREÇO Address Dirección
EXPEDIENTE | CREDITS | CRÉDITOS
Rui Costa – Governador do Estado da Bahia Fábio Vilas-Boas – Secretário da Saúde
• Secretaria da Saúde do Estado da Bahia
Centro de Atenção à Saúde (CAS) – Av. Antônio Carlos Magalhães
Parque Bela Vista, Salvador – Bahia – Brasil
CEP 40.301-155
E-mail: rbsp.saude@saude.ba.gov.br http://rbsp.sesab.ba.gov.br
EDITORA GERAL General Publisher
Editora General
EDITORA EXECUTIVA
Executive Publisher
Editora Ejecutiva
EDITORES ASSOCIADOS
Associated Editors
Editores Asociados
CONSELHO EMÉRITO
Emeritus Council
Consejo Emérito
• Marcele Carneiro Paim – ISC – Salvador (BA)
• Lucitânia Rocha de Aleluia – Sesab/APG – Salvador (BA)
• Edivânia Lucia Araujo Santos Landim – Suvisa/Sesab – Salvador (BA)
Eduardo Luiz Andrade Mota – ISC/UFBA
Joana Angélica Oliveira Molesini – SESAB/UCS AL – Salvador (BA)
Lorene Louise Silva Pinto – SESAB/UFBA/FMB – Salvador (BA)
Milton Shintaku – IBICT/MCT
• Ana Maria Fernandes Pita – UCS AL – Salvador (BA)
Carmen Fontes Teixeira – UFBA/ISC – Salvador (BA)
Cristina Maria Meira de Melo – UFBA/EENF – Salvador (BA)
Eliane Elisa de Souza Azevedo – UEFS – Feira de Santana (BA)
Heraldo Peixoto da Silva – UFBA/Agrufba – Salvador (BA)
Jacy Amaral Freire de Andrade – UFBA/Criee – Salvador (BA)
José Carlos Barboza Filho – UCS AL – Salvador (BA)
José Tavares Neto – UFBA/FMB – Salvador (BA)
Juarez Pereira Dias – EBMSP/Sesab – Salvador (BA)
Lauro Antônio Porto – UFBA/FMB – DMP – Salvador (BA)
Luis Eugênio Portela Fernandes de Souza – UFBA/ISC – Salvador (BA)
Paulo Gilvane Lopes Pena – UFBA/FMB – DMP – Salvador (BA)
Vera Lúcia Almeida Formigli – UFBA/FMB – DMP – Salvador (BA)
CONSELHO EDITORIAL
Editorial Board
Consejo Editorial
• Adriana Cavalcanti de Aguiar – Instituto Oswaldo Cruz/Instituto de Medicina Social (UERJ) – Rio de Janeiro (RJ)
Andrea Caprara – UEC – Fortaleza (CE)
Jaime Breilh – Centro de Estudios Y Asesoría en Salud (CEAS) – (Health Research and Advisor y Center – Ecuador
Julio Lenin Diaz Guzman – UESC (BA)
Laura Camargo Macruz Feuerwerker – USP – São Paulo (SP)
Luiz Roberto Santos Moraes – UFBA/Escola Politécnica – DHS – Salvador (BA)
Mitermayer Galvão dos Reis – Fiocruz – Salvador (BA)
Reinaldo Pessoa Mar tinelli – UFBA/FMB – Salvador (BA)
Rodolfo G. P. Leon – Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS)
Ruben Araújo Mattos – UERJ – Rio de Janeiro (RJ)
Sérgio Koifman – ENSP/Fiocruz – Rio de Janeiro (RJ)
Volney de Magalhães Câmara – URFJ – Rio de Janeiro (RJ)
ISSN: 0100-0233
ISSN (on-line): 2318-2660
Governo do Estado da Bahia Secretaria da Saúde do Estado da Bahia
INDEXAÇÃO | INDEXING | INDEXACIÓN
Periódica: Índice de Revistas Latinoamericanas em Ciências (México)
Sumário Actual de Revista, Madrid
LILACS-SP – Literatura Latinoamericana em Ciências de La Salud – Salud Pública, São Paulo
Revisão e normalização de originais | Review and standardization | Revisión y normalización: Tikinet
Revisão de provas | Proofreading | Revisión de pruebas: Tikinet
Revisão técnica | Technical review | Revisión técnica: Lucitânia Rocha de Aleluia
Tradução/revisão inglês | Translation/review english | Revisión/traducción inglés: Tikinet
Tradução/revisão espanhol | Translation/review spanish | Traducción/revisión español: Tikinet
Editoração eletrônica | Electronic publishing | Editoración electrónica: Tikinet
Capa | Cover | Tapa: detalhe do portal da antiga Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Solar do século XVIII)
Fotos | Photos | Fotos: Paulo Carvalho e Rodrigo Andrade (detalhes do portal e azulejos)
Periodicidade – Trimestral | Periodicity – Quarterly | Periodicidad – Trimestral
Tiragem – 100 exemplares | Circulation – 100 copies | Tirada – 100 ejemplares
Distribuição – gratuita | Distribution – free of charge | Distribución – gratuita
Revista Baiana de Saúde Pública é associada à Associação Brasileira de Editores Científicos
Revista Baiana de Saúde Pública is associated to Associação Brasileira de Editores Científicos
Revista Baiana de Saúde Pública es asociada a la Associação Brasileira de Editores Científicos
Revista Baiana de Saúde Pública / Secretaria da Saúde do Estado da Bahia. - v. 43, n. 1, jan./mar. 2019 -
Salvador: Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, 2019
Trimestral.
Publicado também como revista eletrônica.
ISSN 0100-0233
E-ISSN 2318-2660
1.Saúde Pública - Bahia - Periódico. IT
CDU 614 (813.8) (05)
LOS ANCIANOS USUARIOS DEL PLAN DE SALUD COMPLEMENTARIO
Elaine Cristina Salzedas Muniz, Maria José Sanches Marin , Carlos Alberto Lazarini, Flavia Cristina Goulart, Danielle Ruiz
“ENTRE MORTOS E FERIDOS”: MAPEAMENTO, CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DOS INCÊNDIOS COM VÍTIMAS NA REGIÃO
METROPOLITANA DO RECIFE
“ENTRE MUERTOS Y HERIDOS”: CARTOGRAFÍA, CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS INCENDIOS CON VÍCTIMAS EN LA ZONA METROPOLITANA DE RECIFE
Roberto Ryanne Ferraz de Menezes, Cristiano Corrêa, José Jéferson Rêgo e Silva, Tiago Ancelmo Pires
ALEITAMENTO MATERNO COMPLEMENTADO E FATORES ASSOCIADOS: COORTE DE NASCIMENTO BRISA
55 SUPPLEMENTED BREASTFEEDING AND ASSOCIATED FACTORS: BRAZILIAN BIRTH COHORT STUDIES

LACTANCIA MATERNA COMPLEMENTADA Y SUS FACTORES ASOCIADOS: COHORTE DE NACIMIENTO DE BRISA
Aurean D’eça Junior, Livia dos Santos Rodrigues, Raina Jansen Cutrim Propp Lima, Thaís Natália Araújo Botentuit, Josiel Guedes da Silva, Rosângela Fernandes Lucena Batista
70 HOSPITALIZATIONS INTENTIONALLY SELF-ADVOCATED INJURIES IN BAHIA, BRAZIL HOSPITALIZACIONES POR LESIONES INTENCIONADAMENTE AUTOINFLIGIDAS EN BAHIA, BRASIL Saulo Sacramento Meira, Alba Benemérita Alves Vilela, Óscar Manuel Soares Ribeiro, Ícaro José Santos Ribeiro
THE NURSING WORK PROCESS IN THE FAMILY HEALTH STRATEGY PROCESO DE TRABAJO DEL ENFERMERO EN LA ESTRATEGIA DE SALUD DE LA FAMILIA
Liane Oliveira Souza Gomes, Flavia Pedro dos Anjos Santos, Vanda Palmarella Rodrigues, Maristela Santos Nascimento, Eduardo Nagib Boery O
PSYCHOLOGY PROFESSIONALS UNDER MULTIPROFESSIONAL RESIDENCE: THE ROLE OF PSYCHOLOGISTS IN THE ESF
EL PROFESIONAL DE LA PSICOLOGÍA EN LA RESIDENCIA MULTIPROFESIONAL: EL PAPEL DEL PSICÓLOGO EN LA ESF
Camila Maffioleti Cavaler, Marieli Mezari Vitali, Amanda Castro, Jacks Soratto, Graziela Amboni
SERIOUS GAME NA PROMOÇÃO DA SAÚDE PARA ESCOLARES: UMA PESQUISA-AÇÃO DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR 132
SERIOUS GAME ON HEALTH PROMOTION FOR SCHOOLCHILDREN: AN ACTION RESEARCH ON FOOD EDUCATION
SERIOUS GAME EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA ESCOLARES: UNA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA
Iramara Lima Ribeiro, Mário Sérgio Gomes Filgueira, Irislândia Lima Ribeiro, José Guilherme da Silva Santa Rosa, Iris do Céu Clara Costa
CUIDADO EM SAÚDE MENTAL NO CONTEXTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: CONTRIBUIÇÕES DA ENFERMAGEM 151
MENTAL HEALTH CARE IN PRIMARY CARE: CONTRIBUTIONS OF NURSING
CUIDADO EN SALUD MENTAL EN EL CONTEXTO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA: CONTRIBUCIONES DE LA ENFERMERÍA
Suianne Braga de Sousa, Lourdes Suelen Pontes Costa, Maria Salete Bessa Jorge
LESÕES BUCAIS DECORRENTES DO USO DE PRÓTESES DENTÁRIAS REMOVÍVEIS
ORAL INJURIES ARISING FROM THE USE OF REMOVABLE DENTURES
DAÑOS A LA MUCOSA BUCAL QUE RESULTAN DEL USO DE PRÓTESIS DENTALES REMOVIBLES
João Rubens Teixeira de Castro Silva, José Carlos Barbosa Andrade Júnior, Paulo Henrique da Silva, Ana Conceição de Oliveira Cravo Teixeira, Larissa Rolim Borges-Paluch
CARACTERIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE NO ESTADO DO PARANÁ
CHARACTERIZATION OF VIOLENCE AGAINST CHILDREN AND ADOLESCENTS IN THE STATE OF PARANÁ
CARACTERIZACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA EL NIÑO Y EL ADOLESCENTE EN EL ESTADO DEL PARANÁ
Bianca Fontana Aguiar, Leandro Rozin, Luana Tonin
FLUORETAÇÃO DA ÁGUA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO: PRODUÇÃO E DISPONIBILIDADE DAS INFORMAÇÕES EM QUESTÃO
FLUORIDATION OF PUBLIC WATER SUPPLY: PRODUCTION AND AVAILABILITY OF INFORMATION
165
180
194
FLUORACIÓN DEL AGUA DE ABASTECIMIENTO PÚBLICO: PRODUCCIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN EN CUESTIÓN
Lorrayne Belotti, Carolina Dutra Degli Esposti, Izabela Marquezini Cabral, Karina Tonini dos Santos Pacheco, Adauto Emmerich Oliveira, Edson Theodoro dos Santos Neto
ANÁLISE DE INTERCORRÊNCIAS DA CAPACIDADE FUNCIONAL E FUNÇÃO COGNITIVA DE IDOSOS, MANAUS (AM): UM ESTUDO DE CASO
209
COMPLICATIONS OF FUNCTIONAL CAPACITY AND COGNITIVE FUNCTION IN OLDER ADULTS, MANAUS, AMAZONAS: A CASE STUDY ANÁLISIS DE INTERCORRENCIAS SOBRE LA CAPACIDAD FUNCIONAL Y FUNCIÓN COGNITIVA EN PERSONAS MAYORES, MANAUS (AM): UN ESTUDIO DE CASO
Aldo Pacheco Ferreira, Karla Geovanna Moraes Crispim
CONDIÇÕES DE VIDA, SAÚDE E MORBIDADE DE COMUNIDADES QUILOMBOLAS DO SEMIÁRIDO BAIANO, BRASIL
226
LIFE CONDITIONS, HEALTH AND MORBIDITY OF QUILOMBOLAS COMMUNITIES FROM BAHIA SEMIARID, BRAZIL CONDICIONES DE VIDA, SALUD Y MORBILIDAD DE COMUNIDADES DE QUILOMBOLAS EN EL SEMIÁRIDO DE BAHIA, BRASIL
Roberta Lima Machado de Souza Araújo, Edna Maria de Araújo, Hilton Pereira da Silva, Carlos Antônio de Souza Teles Santos, Felipe Souza Nery, Djanilson Barbosa dos Santos, Betânia Lima Machado de Souza
ARTIGO DE REVISÃO
FORMAÇÃO EM NUTRIÇÃO NO BRASIL: ANÁLISE DE ALCANCES E LIMITES
NUTRITION TRAINING IN BRAZIL: ANALYSIS OF SCOPE AND LIMITS AND A LITERATURE REVIEW
FORMACIÓN EN NUTRICIÓN EN BRASIL: ANÁLISIS DE ALCANCES Y LÍMITES A PARTIR DE UNA REVISIÓN DE LA LITERATURA
Ludmylla de Souza Valverde, Adriana Miranda Pimentel, Micheli Dantas Soares
O ENSINO SOBRE HANSENÍASE NA GRADUAÇÃO EM SAÚDE: LIMITES E DESAFIOS
TEACHING ABOUT LEPROSY IN UNDERGRADUATE HEALTH COURSES: LIMITS AND CHALLENGES FOR INTEGRAL CARE
LA ENSEÑANZA SOBRE LEPRA EN LOS CURSOS DE PREGRADO EN SALUD: LOS LÍMITES Y LOS DESAFÍOS PARA UN CUIDADO INTEGRAL
Maria Augusta Vasconcelos Palácio, Iukary Takenami, Laís Barreto de Brito Gonçalves
RELATO DE EXPERIÊNCIA
PRÁTICA INTERPROFISSIONAL COLABORATIVA EM SAÚDE COLETIVA À LUZ DE PROCESSOS EDUCACIONAIS INOVADORES
271
COLLABORATIVE INTERPROFESSIONAL PRACTICE IN COLLECTIVE HEALTH IN THE LIGHT OF INNOVATIVE EDUCATIONAL PROCESSES PRÁCTICA INTERPROFESIONAL COLABORATIVA EN SALUD COLECTIVA A LA LUZ DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS INNOVADORES
Mússio Pirajá Mattos, Daiene Rosa Gomes, Maiara Macêdo Silva, Samara Nagla Chaves Trindade, Elizabete Regina Araújo de Oliveira, Raquel Baroni de Carvalho
A FORMAÇÃO CONSTRUTIVISTA DE EDUCANDOS DE FARMÁCIA NA GESTÃO DO SUS: ABORDAGENS E CONTRIBUIÇÕES PARA AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM
288
THE CONSTRUCTIVE EDUCATION OF PHARMACY STUDENTS IN SUS MANAGEMENT: APPROACHES AND CONTRIBUTIONS TO VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENTS
LA FORMACIÓN CONSTRUCTIVA DE EDUCANDOS DE FARMACIA EN LA GESTIÓN DEL SUS: ENFOQUES Y CONTRIBUCIONES EN ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE
Mila Silva Cunha, Hudson Manoel Nogueira Campos, Mússio Pirajá Mattos
O TELESSAÚDE COMO ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE
DOS TRABALHADORES DO SUS
“TELESSAUDE” AS A STRATEGY FOR PERMANENT HEALTH EDUCATION OF SUS HEALTHCARE WORKERS
EL TELESALUD COMO UNA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN PERMANENTE EN SALUD DE LOS TRABAJADORES DEL SUS
Márcio Lemos Coutinho, Celina Sayuri Shiraishi, Eneida Gomes Ferreira, Valdelíria Coelho
301
DIRETRIZES PARA AUTORES I GUIDELINES FOR AUTHORS DIRECTRIZES PARA AUTORES

Com grande contentamento, apresentamos este novo número que reúne um conjunto de 19 trabalhos que versam sobre temáticas diversificadas e desafiadoras presentes no cotidiano do nosso Sistema Único de Saúde (SUS). Essa diversidade da produção de conhecimento confirma a relevância dos estudos e contribuições no campo da saúde coletiva em prol da saúde da população brasileira.
Nessa perspectiva, a seção Artigos Originais de Tema Livre apresenta 14 artigos. São eles: “Mortalidade e acompanhamento do diabetes e da hipertensão na Atenção Básica de um município do Nordeste brasileiro”; “Automedicação por idosos usuários de plano de saúde suplementar”; “‘Among dead and wounded’: mapping, characterization and analysis of fires with victims in Recife’s Metropolitan Zone”; “Aleitamento materno complementado e fatores associados: coorte de nascimento BRISA”; “Hospitalizações por lesões autoprovocadas intencionalmente na Bahia, Brasil”; “Processo de trabalho do enfermeiro na Estratégia Saúde da Família”; “O profissional de psicologia na residência multiprofissional: o papel do psicólogo na ESF”; “Serious game na promoção da saúde para escolares: uma pesquisa-ação de educação alimentar”; “Cuidado em saúde mental no contexto da Atenção Primária: contribuições da enfermagem”; “Lesões bucais decorrentes do uso de próteses dentárias removíveis”; “Caracterização da violência contra a criança e o adolescente no estado do Paraná”; “Fluoretação da água de abastecimento público: produção e disponibilidade das informações em questão”; “Análise de intercorrências da capacidade funcional e função cognitiva de idosos, Manaus (AM): um estudo de caso”; e “Condições de vida, saúde e morbidade de comunidades quilombolas do semiárido baiano, Brasil”.
Neste novo volume, temos também o artigo de revisão “Formação em nutrição no Brasil: análise de alcances e limites a partir de uma revisão da literatura” e o ensaio “O ensino sobre hanseníase na graduação em saúde: limites e desafios para um cuidado integral”.
Complementando os trabalhos da presente edição, apresentamos três relatos de experiência que abordam temas da Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, endossando o desafio da formação, desenvolvimento e qualificação de trabalhadores da saúde, bem como do processo de transformação das práticas profissionais através de estratégias de metodologias ativas de ensino-aprendizagem e implantação de dispositivos de Educação Permanente em Saúde. São eles “Prática interprofissional colaborativa em saúde coletiva à luz de processos educacionais inovadores”; “A formação construtivista de educandos de farmácia na gestão do
SUS: abordagens e contribuições para ambientes virtuais de aprendizagem”; e “O Telessaúde como estratégia de educação permanente em saúde dos trabalhadores do SUS”. Entre as contribuições para o SUS, esperamos que essa publicação estimule a troca de experiências e inspire a constituição e multiplicidade de novas vozes em defesa da saúde do povo brasileiro. Além disso, que possa contribuir com a produção e difusão de informações técnico-científicas em saúde, ampliando o debate sobre a importância da circulação e democratização do conhecimento.
Marcele Carneiro Paim Editora Geral da Revista Baiana de Saúde Pública (RBSP)DOI: 10.22278/2318-2660.2019.v43.n1.a2623
Ivna Vidal Freirea
Jules Ramon Brito Teixeirab
Mailson Fontes de Carvalhoc
Tayana Kayre Assunção Santosd
Icaro José Santos Ribeiroe
Resumo
A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e o Diabetes Mellitus (DM) têm elevada morbimortalidade, estando seu descontrole relacionado à baixa taxa de adesão à terapêutica e aos serviços de atenção básica à saúde. Assim, o objetivo deste artigo foi analisar o cadastramento e o acompanhamento de indivíduos acometidos por DM e HAS e verificar a mortalidade relacionada ao DM e a doenças cardiovasculares (DCV) num município do Nordeste brasileiro. Trata-se de um estudo descritivo, com dados do Sistema de Informações da Atenção Básica e de informações de mortalidade da Superintendência de Vigilância e Proteção da Saúde, coletados entre os anos de 2008 e 2013. Pôde-se constatar que a média de hipertensos cadastrados e acompanhados foi de 4.364 (± 652) e 3.862 (± 548), e, a de diabéticos, 1.076 (± 222) e 9.68 (± 190), respectivamente. A taxa global de acompanhamento de hipertensos e diabéticos foi de 88,6% e 90,2%, respectivamente. Evidenciou-se diferença estatisticamente significante na comparação do grupo de cadastrados e acompanhados na maioria dos anos estudados (p < 0,001). Identificou-se 178 óbitos
a Doutoranda em Enfermagem e Saúde pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb). Bolsista Uesb. Jequié, Bahia, Brasil. E-mail: vidal.ivna@gmail.com
b Doutor em Enfermagem. Bolsista do Programa Nacional de Pós Doutorado/Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Docente colaborador da Universidade Estadual de Feira de Santana. Feira de Santana, Bahia, Brasil. E-mail: julesramon@gmail.com
c Doutor em Ciências da Saúde. Docente da Universidade Federal do Piauí. Picos, Piauí, Brasil. E-mail: mailsoncarvalho@yahoo.com.br
d Enfermeira. Secretaria Municipal de Ubatã. Ubatã, Bahia, Brasil. E-mail: tayassuncao@hotmail.com
e Doutor em Ciências da Saúde. Pesquisador do Grupo de Pesquisa Saúde e Qualidade de Vida (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia). Jequié, Bahia, Brasil. E-mail: icaro.ribeiro29@gmail.com
Endereço para correspondência: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Av. José Moreira Sobrinho, s/n, Jequiezinho. Jequié, Bahia, Brasil. CEP: 45.206-190. E-mail: icaro.ribeiro29@gmail.com
por DM e 446 por DCV, dentre as quais prevaleceram doenças isquêmicas do coração e doenças cerebrovasculares. Conclui-se que as taxas de cadastramento e acompanhamento foram consideradas satisfatórias, apontando para a efetividade da atenção básica à saúde dessa população, ainda que consideradas as limitações do estudo. Por fim, evidenciou-se o seguimento da tendência global de elevação das taxas de mortalidade por DM e DCV. Palavras-chave: Diabetes. Hipertensão. Atenção Primária à Saúde.
DIABETES AND HYPERTENSION MORTALITY AND MONITORING IN PRIMARY CARE OF A NORTHEASTERN BRAZILIAN CITY
Abstract
Introduction: Systemic Arterial Hypertension (SAH) and Diabetes Mellitus (DM) have high morbi-mortality, and its lack of control is related to the low rate of adherence to treatment and primary health care services. Objective: to analyze the enrollment and follow-up of individuals affected by DM and SAH and to verify the mortality related to DM and cardiovascular diseases (CVD) in a municipality of the Northeast region of Brazil. Material and Methods: This is a descriptive study with data from the Primary Care Information System and mortality information from the Superintendence of Health Surveillance and Protection from 2008 to 2013. Results: The mean number of enrolled and monitored hypertensives was 4364 (± 652) and 3862 (± 548), and of diabetics, 1076 (± 222) and 968 (± 190), respectively. The overall rate of follow-up for hypertensive and diabetic patients was 88.6% and 90.2%, respectively. There was a statistically significant difference in the comparison of the group of patients enrolled and followed up in most of the studied years (p < 0.001). There were 178 deaths from MD and 446 from CVD, among which ischemic heart disease and cerebrovascular disease prevailed. Conclusions: enrollment and follow-up rates were considered satisfactory and point to the effectiveness of the basic health care of this population, although considering the limitations of the study. An overall trend of increasing mortality rates by DM and CVD was observed.
Keywords: Diabetes. Hypertension. Primary Health Care.
Resumen
La hipertensión arterial (HAS) y la diabetes mellitus (DM) tienen un alta morbimortalidad, y su falta de control está relacionada con la baja adherencia al tratamiento y a los servicios de la atención primaria de la salud. Se objetivó examinar el registro y seguimiento de las personas con diabetes e hipertensión y verificar la mortalidad relacionada con la DM y las enfermedades cardiovasculares (ECV) en un municipio del Noreste de Brasil. Se realizó un estudio descriptivo con los datos del Sistema de Información de Atención Básica y de informaciones sobre la mortalidad de la Superintendencia de Vigilancia y Protección de la Salud, recolectados entre 2008 y 2013. Se encontró que la media de hipertensos registrados y acompañados era de 4364 (± 652) y 3862 (± 548) y en los diabéticos, 1076 (± 222) y 968 (± 190), respectivamente. Las tasas de monitorización de la hipertensión y de la diabetes fueron del 88,6% y el 90,2%, respectivamente. Se evidencia una diferencia estadísticamente significativa en la comparación del grupo registrado y acompañado en la mayoría de los años estudiados (p < 0,001). Se identificaron 178 muertes por DM y 446 por ECV, entre estos se prevalecieron enfermedades isquémicas del corazón y las enfermedades cerebrovasculares. Se concluye que las tasas de registro y seguimiento fueron consideradas satisfactorias y apuntan a la efectividad de la atención primaria de salud en esta población, a pesar de las limitaciones del estudio. Se constató que las altas tasas de mortalidad por DM y ECV todavía siguen la tendencia global.
Palabras clave: Diabetes. Hipertensión. Atención Primaria de Salud.
As doenças cardiovasculares (DCV), especialmente a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e o Diabetes Mellitus (DM), estão entre as principais causas de morbidade e mortalidade mundial. As abordagens efetivas do indivíduo, do sistema de saúde e da população para melhorar a saúde cardiovascular incluem melhorar os comportamentos de risco à saúde (tabagismo, inatividade física, nutrição e obesidade), fatores de risco de doença cardíaca (história familiar e genética, colesterol alto, pressão arterial elevada, Diabetes Mellitus e síndrome metabólica) e adesão à terapêutica e aos serviços de atenção primária à saúde. A gestão desses fatores de risco poderia prevenir ou atrasar a ocorrência de, aproximadamente, 80% das DCV,
considerando a prevenção primária e secundária de DCV e seus distúrbios relacionados, tais como HAS e DM1.
A prevalência global de HAS e o seu baixo controle vêm aumentando expressivamente, especialmente nos países em desenvolvimento, o que é decorrente do fato de ser uma doença assintomática na fase inicial, de ainda ser predominante a baixa adesão ao tratamento medicamentoso e não medicamentoso e por causa da falta de informação por parte da população2. No Brasil, a HAS atinge atualmente cerca de 36 milhões de indivíduos adultos, contribuindo direta ou indiretamente para 50% das mortes por DCV3.
Quanto ao DM, além de ser crescente o número de casos diagnosticados, a doença apresenta perfil de elevada prevalência, com estimativa atual de 387 milhões de pessoas com diabetes e previsão de alcance de cerca de 471 milhões em 2035, com crescimento de maior intensidade em países em desenvolvimento e entre a população jovem4.
Além das potenciais complicações relacionadas a problemas cardiovasculares, câncer e doenças respiratórias, dois terços da mortalidade global (cerca de 36 milhões) são devidos às Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT). Assim, a Organização Mundial de Saúde clama por uma ação urgente, já que essas doenças são responsáveis pela perda prematura de 16 milhões de vidas por ano5.
Por apresentarem elevada possibilidade de manifestação de quadros agudos ou mesmo pelo desenvolvimento de complicações secundárias, o acompanhamento de indivíduos diabéticos e hipertensos torna-se essencial para minimizar possíveis agravamentos6,7. Todavia, ainda há dificuldade no acompanhamento dos casos de DCNT no âmbito da saúde pública, em especial por conta do não comparecimento às consultas de rotina e à baixa adesão ao tratamento, fatores em potencial para o aumento do risco de eventos agudos como infartos ou acidentes vasculares8,9.
No intuito de prevenir, tratar e/ou controlar o impacto das DCNT e de outras doenças e agravos à saúde da população brasileira, foram desenvolvidos modelos tecnoassistenciais alternativos para o Sistema Único de Saúde (SUS), a exemplo da Estratégia Saúde da Família (ESF), objetivando superar a forma de produzir saúde instituída pelo modelo hegemônico. Contudo, para que a ESF alcançasse todos os indivíduos e a coletividade, foi necessário desenvolver ações pautadas na integralidade, no fortalecimento das redes e na participação social10.
Nesse sentido, visando ao cadastro e ao acompanhamento dos indivíduos acometidos por DM e/ou HAS, o Ministério da Saúde implantou, no âmbito da ESF, a sistemática de acompanhamento por meio, principalmente, dos Agente Comunitários de Saúde (ACS)6 Assim, fundamentando-se no acesso universal, na integralidade da atenção e na centralidade
na família, a ESF organiza sua demanda por meio do trabalho em equipe multiprofissional de acordo com a delimitação do território com a clientela adscrita, enfatizando o estabelecimento de vínculos e a criação de laços de compromisso entre seus profissionais e a população11,12
Ainda na lógica de acompanhamento de grupos populacionais específicos, foi criado o Programa HiperDia, que teria por finalidade o monitoramento dos pacientes e a geração de informações para aquisição, dispensação e distribuição de medicamentos6. Atualmente, as informações encontram-se inseridas no Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica (SISAB) como parte de uma estratégia de informatização do SUS (e-SUS).
No entanto, pode-se dizer que três aspectos básicos incidem sobre as dificuldades nos cuidados das DCNT, a exemplo da DM e HAS, na ESF: dificuldades advindas da falta do vínculo; da prática de resposta à demanda; e da desresponsabilização pelo usuário diante dos entraves na rede. Essas dificuldades desmotivam e desresponsabilizam tanto os profissionais no acompanhamento longitudinal dos usuários como a adesão destes à ESF13, o que pode resultar no surgimento e no agravamento de complicações decorrentes do DM e HAS e outras DCV, culminar com o óbito e, inclusive, onerar o SUS.
Nessa perspectiva, este estudo teve como objetivos analisar o cadastramento e o acompanhamento de indivíduos acometidos por DM e HAS e verificar a mortalidade relacionada ao DM e às DCV num município do Nordeste Brasileiro.
Trata-se de um estudo descritivo e exploratório cujos dados são de fonte secundária, sendo obtidos por meio de consulta às bases de dados do Siab e do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), disponibilizadas publicamente pelo Departamento de Informática do SUS (Datasus), referentes ao monitoramento do cadastramento e do acompanhamento de pessoas com DM e HAS e da mortalidade por DM e DCV no município de Ipiaú.
O município de Ipiaú está localizado a 353 km da capital da Bahia, na mesorregião Sul e microrregião cacaueira do estado, pertencente à região Nordeste do Brasil. Tem uma população estimada, para o ano de 2016, de 47.606 habitantes. Sua economia baseia-se, principalmente, na agropecuária, destacando-se o cultivo de cacau, com os ramos da indústria e da mineração em expansão14.
Para obtenção dos resultados, utilizou-se, no ambiente virtual do Siab, o comando de linha “município”, de coluna “ano/mês” e de conteúdo “hipertensos acompanhados/ diabéticos acompanhados” e “hipertensos cadastrados/diabéticos cadastrados”, no período de tempo de seis anos, de janeiro de 2008 a dezembro de 2013.
Já no ambiente virtual da Superintendência de Vigilância e Proteção à Saúde (Suvisa), que disponibiliza os dados do SIM, fora solicitado no comando linha a “causa-CID-BR-10”, na coluna o “ano do óbito” e no conteúdo a “frequência”, considerando o período de tempo de seis anos. Para efeitos deste estudo, foi avaliada a mortalidade pelas seguintes DCV: doenças hipertensivas, doenças isquêmicas do coração, infarto agudo do miocárdio e doenças cerebrovasculares.
Os dados foram exportados para planilha do software Microsoft Excel®, versão 2013, e processados no Statistical Package for The Social Science (SPSS), versão 20.0 (IBM Corp., Armonk, Estados Unidos). Os resultados foram caracterizados por meio de média e desvio-padrão, e as diferenças entre os grupos de cadastrados e acompanhados foram testadas pelo teste t de Student, tendo sido, para efeitos deste estudo, consideradas significantes as associações com p-valor < 0,01.
Vale ressaltar que, por se tratar de um estudo de levantamento de dados secundários disponibilizados por bases de acesso público e gratuito nas quais não há identificação dos participantes, não foi necessária a apreciação por Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). Salientase, ainda, que todos os procedimentos éticos foram seguidos na análise e na interpretação dos resultados, conforme dispõe a Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) n. 466, de 12 de dezembro de 2012.
O número de hipertensos cadastrados e acompanhados teve média, em 6 anos, respectivamente, de 4.364 (± 652) e 3.862 (± 548). Quanto aos diabéticos, foi evidenciada média de 1.076 (± 222) cadastrados e 968 (± 190) acompanhados. A Tabela 1 sumariza o cadastro e o acompanhamento anual. Foi evidenciado um crescimento constante no número total de hipertensos cadastrados, com decréscimo no ano de 2013. Quanto aos hipertensos acompanhados, verificou-se decréscimo em 2012 e 2013.
Tabela 1 – Número absoluto e proporção dos hipertensos e diabéticos cadastrados e acompanhados. Ipiaú, Bahia – 2016
A Tabela 2 apresenta a distribuição anual dos hipertensos cadastrados e acompanhados no município de Ipiaú, na Bahia. A série temporal avaliada evidenciou porcentagem global de acompanhamento de hipertensos e diabéticos, respectivamente, de 88,6 e 90,2%. Quanto às diferenças ente os hipertensos cadastrados e acompanhados, destacamse o ano de 2012 com a maior diferença (691 indivíduos); dessa forma, 86,4% dos indivíduos cadastrados foram acompanhados no ano; a menor diferença foi evidenciada no ano de 2009 (379 indivíduos), representando 89,8% dos cadastrados acompanhados. Dentre os diabéticos, destaca-se o de 2012, com a maior diferença entre diabéticos cadastrados e acompanhados (175 indivíduos); dessa forma, 86,8% dos indivíduos cadastrados foram acompanhados no ano; a menor diferença foi evidenciada no ano de 2009 (75 indivíduos), representando 91% dos cadastrados acompanhados. A comparação do grupo de cadastrados e acompanhados evidenciou diferença estatisticamente significante na maioria dos anos estudados.
Tabela 2 – Distribuição anual dos hipertensos cadastrados e acompanhados de acordo com a média e o desvio-padrão. Ipiaú, Bahia – 2016.
Fonte: Datasus (2008-2013).
* diferença estatisticamente significante entre casos cadastrados e acompanhados (teste t de Student, p < 0,01)
HAS = Hipertensão Arterial Sistêmica
DM = Diabetes Mellitus
µ = média
± dp = desvio padrão.
A Tabela 3 apresenta distribuição temporal da mortalidade decorrente do DM e de DCV, no período de 2008 a 2013 em Ipiaú. Na série temporal estudada foram computados um total de 624 óbitos, sendo 178 relacionados ao DM e 446 relacionadas às DCV, sendo mais prevalente as doenças isquêmicas do coração e as doenças cerebrovasculares.
Quanto ao comportamento da mortalidade por DM e DCV, apesar da flutuação dos indicadores, verificou-se tendência crescente para DM, doenças hipertensivas, doenças isquêmicas do coração e infarto agudo do miocárdio. A mortalidade por doenças
cerebrovasculares apresentou tendência decrescente, apesar da predominância. No conjunto de todas as causas estudadas, evidenciou-se menor mortalidade no ano de 2009 (82 óbitos) e maior no ano de 2012 (131 óbitos).
Tabela 3 – Distribuição temporal, média e o desvio-padrão, da mortalidade relacionada ao DM e às DCV, no período de 2008 a 2013. Ipiaú, Bahia – 2016
Fonte: Datasus (2008-2013).
DM = Diabetes Mellitus
Seguindo o modelo de vinculação paciente-profissional proposto pela ESF, as famílias adstritas à área de abrangência das USF devem ser visitadas, cadastradas e regularmente acompanhadas. Nesse mesmo momento, o acometimento por quaisquer doenças é investigado de maneira autorreferida6
Depois da confirmação diagnóstica dos pacientes, espera-se o atendimento da equipe multiprofissional na unidade de saúde e/ou nos domicílios, de acordo com o planejamento da equipe e a necessidade de cada caso. No caso de indivíduos acometidos por DM e HAS, os cadastramentos e os atendimentos são realizados, fornecidos pelos formulários de atendimento e cadastro individual do e-SUS8
Apesar dos dados apresentados pelo Siab muitas vezes não representarem a totalidade dos indivíduos acometidos por quaisquer das patologias ali descritas, as informações servem de direcionamento de políticas de saúde e devem ser consideradas para cálculos de medidas de tendência das doenças. Neste estudo, a prevalência de HAS variou de um mínimo de 8,1% ao máximo de 11,4%, em 2012.
Essa prevalência disponibilizada pelo Siab encontra-se muito abaixo da estatística nacional identificada pelo Programa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças
Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), que no ano de 2015 evidenciou a prevalência de diagnóstico médico prévio autorreferido de HAS de 24,9%, sendo maior em mulheres (27,3%)
do que em homens (22%). A prevalência da morbidade por HAS aumentou com a idade e foi maior entre os indivíduos com menor nível de escolaridade (zero a oito anos de estudo)15. Essa discrepância entre os resultados no município estudado e as estatísticas nacionais pode ser decorrente da alta taxa de acompanhamento no município (que não reflete a realidade do Brasil), da possível e decorrente efetiva adesão à terapêutica e à ESF, bem como da subnotificação dos casos por parte dos profissionais de saúde.
Quanto ao DM, a prevalência variou de um mínimo de 1,9% nos anos de 2008 e 2009 a um máximo de 3%, em 2010. Levando-se em consideração o diagnóstico médico autorreferido em ambos os sexos, o diagnóstico da doença se torna mais comum com a idade, alcançando 22% daqueles com 65 ou mais anos16,17. Segundo dados do Vigitel15, no ano de 2015, o diagnóstico médico prévio autorreferido de DM foi de 7,4%, sendo de 6,9% entre homens e de 7,8% entre mulheres. Em ambos os sexos, o diagnóstico da doença se tornou mais comum com o avanço da idade e foi maior em indivíduos com até oito anos de estudo.
De acordo com Molina et al. (2013)18 o Siab apresenta problemas operacionais, como a subnotificação dos cadastrados e a ausência total de informação sobre a qualidade do acompanhamento dos usuários da ESF. Buscando promover, talvez, a adequação de algumas dessas fragilidades apresentadas pelo sistema, o Ministério da Saúde lançou em 2013 o software e-SUS AB, que substituirá o Siab em sua totalidade. O novo programa promete integrar os diferentes níveis de atenção e agregar informações mais recentes e abrangentes de todos os usuários do SUS.
Assim, este estudo evidenciou taxas de acompanhamento satisfatórias dos pacientes cadastrados, com discretas variações anuais, diferente do que foi encontrado por outro estudo que verificou uma grande variabilidade no percentual de acompanhamento pelas equipes de saúde para hipertensos (50-97%) e diabéticos (55-100%) nos diferentes municípios pertencentes de uma Regional de Saúde do Sul do país19
Os levantamentos censitários de estimativas populacionais são diretamente influenciados pela avaliação de cobertura. Ademais, o registro das informações pode apresentar distorções, potencialmente ligadas a treinamento insuficiente das equipes de saúde para essa atividade. Essa cobertura pode ser considerada um pré-requisito à avaliação de outros indicadores, uma vez que, para se discutir qualidade, impacto ou satisfação, é importante que o serviço seja oferecido ao máximo da população20
A taxa de cobertura das ESF aumentou sobremaneira nos últimos anos em todos os estados. De acordo com estudo que avaliou a cobertura da ESF estimada pela Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), comparando com dados administrativos e coberturas anteriores da
Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios (Pnad), observou-se aumento na cobertura da população pelo Programa Saúde da Família no Brasil, passando de 50,9%, segundo a Pnad 2008, para 53,4%, em 2013, segundo a PNS. O crescimento ocorreu no Brasil, grandes regiões, urbano e rural. Os dados da PNS em 2013 foram semelhantes aos administrativos do Departamento de Atenção Básica (DAB) em 2013: cerca de 56% de domicílios cadastrados, equivalente à cobertura estimada de cerca de 109 milhões de pessoas, em 5.346 municípios e 34.715 equipes de saúde. Além disso, considerando a atuação dos Agentes Comunitários de Saúde, essa cobertura sobe para 125,5 milhões de pessoas21. Essa abrangência populacional está diretamente ligada a melhores taxas de comparecimento às consultas de acompanhamento dos diversos programas da ESF.
Cabe dizer que este estudo foi realizado num município de pequeno porte, do interior do estado da Bahia, no Nordeste brasileiro, com satisfatórias taxas de cadastro e acompanhamento pela ESF para os agravos de DM e de HAS. Assim, as prevalências estimadas podem ter sido influenciadas pela elevada cobertura da assistência à saúde. Contudo, mesmo assumindo o risco de subestimação das prevalências reais, em maior ou menor grau, os resultados evidenciados aqui podem ser úteis para avaliar as demandas e as necessidades de saúde originadas pelo DM e pela HAS.
Todavia, em contrapartida à elevação da cobertura da ESF, as taxas de não comparecimento às consultas, sejam elas médicas ou de enfermagem, para acompanhamento do DM ou da HAS já foram relatadas por diferentes estudos9,22,23. Em contraste com esse cenário, as elevadas taxas de acompanhamento aqui evidenciadas diferem dos percentuais de acompanhamento (adesão ao serviço) encontradas em outras pesquisas e podem decorrer, entre outras razões, da satisfatória taxa de cobertura do Programa Saúde da Família e da ESF.
O comparecimento regular aos atendimentos na USF tem potencial de intervenções mais eficazes como, por exemplo, uma maior adesão ao tratamento, já que os usuários com maior comparecimento apresentam, normalmente, maior controle da PA e menor prevalência de fatores associados à sua elevação e/ou descontrole. Ademais, a presença na USF permite que eles integrem ações organizadas pela ESF que visem à prevenção e à promoção da saúde.
Um levantamento baseado na PNS de 2013 apontou como principais resultados que quase a totalidade da população de adultos já teve a sua PA aferida alguma vez na vida; que quase 70% daqueles com HA autorreferida receberam assistência médica para essa enfermidade nos últimos 12 meses; e que aproximadamente metade dos adultos com HA autorreferida foi atendida nas UBS24.
Por avançar de maneira lenta e muitas vezes assintomática, e, em muitos casos ao longo dos anos, a HAS e o DM não são tratados adequadamente ou são detectados tardiamente, podendo trazer sérias consequências ao indivíduo e um maior custo de seu tratamento – tanto para estes como para o SUS.
Portanto, estratégias e ações devem ser traçadas pelos serviços de saúde visando a favorecer o comparecimento às consultas, uma vez que um maior cumprimento dos agendamentos pode influenciar as condições de saúde dos usuários e, consequentemente, propiciar uma melhoria da sua qualidade de vida. Doravante, para que essas intervenções sejam exitosas, torna-se intrinsecamente necessário a identificação dos usuários faltosos e resistentes25
A análise realizada apresentou resultados satisfatórios para as taxas de acompanhamento de indivíduos acometidos por HAS e DM no município investigado. Quanto à análise da mortalidade, evidenciou-se o seguimento da tendência global de elevação das taxas de mortalidade por DM e por DCV. Embora resultados satisfatórios possam apontar para a efetividade das ações de acompanhamento dessa população pela ESF, uma boa adesão ao tratamento exige também a participação ativa dos usuários. Para isso, é necessário o comparecimento às consultas médica e de enfermagem, a mensuração regular da pressão arterial e a busca pelo empoderamento advindo do conhecimento da patologia, desde a etiologia, do tratamento e até de suas complicações.
Por fim, é fato que o desenho metodológico utilizado nesta pesquisa lhe atribui limitações, pois estudos dessa natureza não permitem estabelecer relação de causa e efeito. Porém, ratifica-se que um acompanhamento adequado por parte das equipes da ESF pode tornar-se efetivo para o reordenamento dos recursos gastos com internações e tratamentos de maior complexidade, focando a atenção a trabalhos de prevenção, educação em saúde e tratamento precoce.
1. Concepção do projeto, análise e interpretação dos dados: Ivna Vidal Freire e Icaro José Santos Ribeiro.
2. Redação do artigo e revisão crítica relevante do conteúdo intelectual: Jules Ramon Brito Teixeira e Mailson Fontes de Carvalho.
3. Revisão e/ou aprovação final da versão a ser publicada: Ivna Vidal Freire, Jules Ramon Brito Teixeira, Mailson Fontes de Carvalho, Tayana Kayre Assunção Santo e Icaro José Santos Ribeiro.
4. Ser responsável por todos os aspectos do trabalho na garantia da exatidão e integridade de qualquer parte da obra: Ivna Vidal Freire e Icaro José Santos Ribeiro.
1. Oh J-Y, Allison MA, Barrett-Connor E. Different impacts of hypertension and diabetes mellitus on all-cause and cardiovascular mortality in community-dwelling older adults: the Rancho Bernardo study. J Hypertens. 2017;35(1):55-62.
2. Ibrahim MM, Damasceno A. Hypertension in developing countries. Lancet. 2012;380(9841):611-9.
3. Malachias MVB, Souza WKSB, Plavnik FL, Rodrigues CIS, Brandão AA, Neves MFT, et al. 7a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial. Arq Bras Cardiol. 2016;107(3, supl. 3):1-83.
4. Milech A, Oliveira JEP, Vencio S, editores. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2015-2016). São Paulo (SP): AC Farmaceutica; 2016.
5. Chockalingam A, Thakur J, Varma S. Evolution of noncommunicable diseases: past, present, and future. Int J Noncommun Dis. 2017;2(1):1-2.
6. Brasil. Ministério da Saúde. HiperDia: Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos: Manual de Operação. Versão 1.5 M 02. Rio de Janeiro (RJ); 2002.
7. Contiero AP, Pozati MPS, Challouts RI, Carreira L, Marcon SS. Idoso com hipertensão arterial: dificuldades de acompanhamento na Estratégia Saúde da Família. Rev Gaúch Enferm. 2009;30(1):62-70.
8. Oliveira MCF, Rodrigues GM, Monteiro AMZA, Gonçalves FA. Hiperdia: usuários acompanhados pela Estratégia Saúde da Família no bairro da Guanabara. An Congr Bras Med Fam Comunidade. Belém, 2013 Maio;12:1303.
9. Nielsen JØ, Shrestha AD, Neupane D, Kallestrup P. Non-adherence to anti-hypertensive medication in low- and middle-income countries: a systematic review and meta-analysis of 92443 subjects. J Hum Hypertens. 2017;31(1):14-21.
10. Siqueira BPJ, Teixeira JRB, Valença Neto PF, Boery EN, Boery RNSO, Vilela ABA. Men and health care in the social representations of health professionals. Esc Anna Nery Rev Enferm. 2014;18(4):690-6.
11. Miranda GMD, Mendes ACG, da Silva ALA, Santos Neto PM. A ampliação das equipes de Saúde da Família e o programa Mais Médicos nos municípios brasileiros. Trab Educ Saúde. 2017;15(1):131-45.
12. Shimizu HE, Carvalho DA Jr. O processo de trabalho na Estratégia Saúde da Família e suas repercussões no processo saúde-doença. Ciênc Saúde Colet. 2012;17(9):2405-14.
13. Silocchi C, Junges JR. Equipes de atenção primária: dificuldades no cuidado de pessoas com doenças crônicas não transmissíveis. Trab Educ Saúde. 2017;15(2):599-615.
14. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Brasil: Bahia: Ipiaú: informações estatísticas. Rio de Janeiro (RJ); 2016.
15. Brasil. Ministério da Saúde. Vigitel Brasil 2015: saúde suplementar. Brasília (DF); 2017.
16. Brasil. Ministério da Saúde. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: diabetes melittus. Cadernos de Atenção Básica, n. 36. Brasília (DF); 2013.
17. Brasil. Ministério da Saúde. Vigitel Brasil 2010: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico. Brasília (DF); 2011.
18. Molina CG, Costa EM, Pianezzola R, Silveira SA, Neumann CR. Prevalência de hipertensão e diabetes: comparativo de dados: Siab × prontuários. An Congr Bras Med Fam Comunidade. 2013;12:1545.
19. Malfatti CRM, Assunção AN. Hipertensão arterial e diabetes na Estratégia de Saúde da Família: uma análise da frequência de acompanhamento pelas equipes de Saúde da Família. Ciênc Saúde Colet. 2011;16(supl. 1):1383-8.
20. Copque HLF, Trad LAB. Programa Saúde da Família: a experiência de implantação em dois municípios da Bahia. Epidemiol Serv Saúde. 2005;14(4):223-33.
21. Malta DC, Santos MAS, Stopa SR, Vieira JEB, Melo EA, Reis AAC. A cobertura da Estratégia de Saúde da Família (ESF) no Brasil, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, 2013. Ciênc Saúde Colet. 2016 Feb;21(2):327-38.
22. Santa-Helena ET, Nemes MIB, Eluf Neto J. Fatores associados à não-adesão ao tratamento com anti-hipertensivos em pessoas atendidas em unidades de saúde da família. Cad Saúde Pública. 2010;26(12):2389-98.
23. Vrijens B, Antoniou S, Burnier M, de la Sierra A, Volpe M. Current situation of medication adherence in hypertension. Front Pharmacol. 2017;8:100.
24. Malta DC, Stopa SR, Andrade SSCA, Szwarcwald CL, Silva JB Jr, Reis AAC, et al. Cuidado em saúde em adultos com hipertensão arterial autorreferida
no Brasil segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde, 2013. Rev Bras Epidemiol. 2015;18(supl. 2):109-22.
25. Medeiros ARC, Araújo YB, Vianna RP T, Moraes RM. Decision support model applied to the recognition of non-adherent individuals to antihypertensive therapy. Saúde Debate. 2014;38(100):104-18.
Recebido: 28.4.2017. Aprovado: 20.8.2018.
Elaine Cristina Salzedas Muniza
Maria José Sanches Marinb
Carlos Alberto Lazarinic
Flavia Cristina Goulartd
Danielle Ruize
A utilização de medicamentos pelos idosos torna-se ainda mais problemática quando se trata da automedicação. Embora essa prática seja comum no mundo todo, as causalidades são diversas, visto que as variáveis socioculturais influenciam essa prática. Dados epidemiológicos do Brasil mostram que 80 milhões de pessoas têm o hábito de se automedicar, e os idosos fazem parte dessa estatística. Este estudo tem como objetivo analisar o perfil sociodemográfico de idosos que utilizam plano de saúde suplementar e automedicação. Trata-se de um estudo transversal, com abordagem quantitativa, no qual foram entrevistados 239 idosos usuários de plano de saúde suplementar utilizando-se um questionário previamente estruturado. Os dados foram transcritos para o software SPSS versão 17 e as análises inferenciais foram realizadas pelo teste de qui-quadrado de Pearson ou pelo teste exato de Fisher. Observou-se que 53,9% (125) dos entrevistados realizaram automedicação. Os homens e os idosos que vivem sozinhos tendem a fazer uso de automedicação em maior proporção. Os medicamentos mais utilizados dessa forma são a dipirona sódica, sozinha 15,8% (21) ou em associação 24,8% (33), seguida do paracetamol 10,5% (14), dos fitoterápicos 9% (12), vitaminas 6,8% (9) e nimesulida, utilizada por 6% dos idosos.
a Enfermeira. Mestre em Saúde e Envelhecimento. Marília, São Paulo, Brasil. E-mail: elacris@terra.com.br
b Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Docente do curso de Enfermagem e mestrado da Faculdade de Medicina de Marília. Marília, São Paulo, Brasil. E-mail: marnadia@terra.com.br
c Farmacêutico. Doutor em Farmacologia. Docente da Faculdade de Medicina de Marília. Marília, São Paulo, Brasil.
E-mail: lazarini@famema.br
d Farmacêutica. Doutora em Farmacologia. Docente da Faculdade de Medicina de Marília. Marília, São Paulo, Brasil.
E-mail: flaviagoulart@usp.br
e Discente do curso de Enfermagem da Faculdade de Medicina de Marília. Marília, São Paulo, Brasil. E-mail: marnadia@terra.com.br
Endereço para correspondência: Alameda das Nogueiras, n. 310, Sítio Recreio Santa Gertrudes. Marília, São Paulo, Brasil. CEP: 17514-847 E-mail:elacris@terra.com.br
Os dados indicam que esses idosos apresentam padrão de automedicação que se aproxima dos dados encontrados em outros estudos. Considera-se importante maior investimento em estratégias educativas como forma de evitar o uso de automedicação.
Palavras-chave: Automedicação. Saúde suplementar. Idoso. Uso de medicamentos.
Abstract
The use of medicine by older adults becomes even more problematic when it comes to self-medication. Despite this practice being common throughout the world, causes for such behavior are diverse, especially with socio-cultural variables acting in place. Epidemiological data from Brazil show that 80 million people have the habit of self-medicating and the elderly are part of this statistic. This study analyzes the socio-demographic profile of older adults who use the health insurance plan and self-medicate. This is a cross-sectional study with a quantitative approach which interviewed 239 elderly who are health insurance plan members with use of a pre-structured questionnaire. The data were entered into SPSS version 17 software and inferential analyses were performed by Pearson’s Chi-squared test or Fisher’s exact test. A total of 53.9% (125) respondents performed self-medication. Men and older adults who live alone tend to make use of self-medication in larger proportion. The most commonly used drugs for self-medication are dipyrone, by itself 15.8% (21) or associated with other drugs 24.8% (33), followed by paracetamol 10.5% (14); herbal medicines 9% (12); vitamins 6.8% (9) and nimesulide, taken by 6.0%. The data indicated an equal self-medication pattern found in other studies for the same population. More investment in educational strategies are required to avoid the use of self-medication.
Keywords: Self-medication. Supplemental health. Aged. Drug utilization.
AUTOMEDICACIÓN DE LOS ANCIANOS USUARIOS DEL PLAN DE SALUD COMPLEMENTARIO
La utilización de medicamentos por ancianos se hace aún más problemática cuando se refiere a la automedicación. Aunque la práctica es frecuente en el mundo, las causalidades son diversas, ya que las variables socioculturales ejercen influencia en ella. Según los datos epidemiológicos de Brasil, hay 80 millones de personas con la costumbre de automedicarse,
y los ancianos son parte de esa estadística. Este estudio tiene como objetivo analizar el perfil sociodemográfico de ancianos que utilizan el plan de salud complementario y el uso de automedicación. Este es un estudio transversal, de enfoque cuantitativo, en el cual se entrevistaron a 239 ancianos usuarios del plan de salud complementario, utilizándose un cuestionario previamente estructurado. Para transcribir los datos se utilizó el software SPSS, versión 17, y para los análisis inferenciales se aplicó la Prueba de χ² de Pearson o el Test Exacto de Fisher. Se observó que el 53,9% (125) de los entrevistados realizaban automedicación. Los hombres y los ancianos que viven solos suelen hacer uso de automedicación en mayor proporción. Los medicamentos más utilizados en la automedicación fueron: la dipirona sódica sola 15,8% (21) o en asociación 24,8% (33), seguido de paracetamol 10,5% (14); de fitoterapias 9% (12); vitaminas 6,8% (9) y nimesulida utilizada por el 6% de los ancianos. Los datos indican que los ancianos presentan un patrón de automedicación que coincide con los datos encontrados en otros estudios. Es importante la mayor inversión en estrategias educativas como forma de evitar el uso de automedicación.
Palabras clave: Automedicación. Salud complementaria. Anciano. Utilización de medicamentos.
A população brasileira acima dos 60 anos enquadra-se nos estudos populacionais que demonstram a prevalência de doenças crônicas com o aumento da idade1.
As complicações decorrentes do uso de medicamentos entre os idosos devemse, principalmente, às alterações das farmacodinâmicas e farmacocinéticas inerentes ao envelhecimento2
A utilização de medicamentos pelos idosos torna-se ainda mais problemática quando se trata da automedicação. Embora essa prática seja comum no mundo todo, as causalidades são diversas, visto que ela é influenciada por variáveis socioculturais. Dados epidemiológicos do Brasil mostram que 80 milhões de pessoas têm o hábito de se automedicarem3, e os idosos fazem parte dessa estatística.
A automedicação é conceituada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como “a prática de ingerir substâncias de ação medicamentosa sem o aconselhamento e/ou acompanhamento de um profissional de saúde qualificado”4. Esse conceito, ratificado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), define que a prescrição e a orientação para uso de medicamento devem ser realizadas pelo médico ou dentista5 Alguns autores também consideram como automedicação a descontinuidade da medicação, mudança de dose e
alteração do tempo de tratamento6. Além disso, em alguns países, como Reino Unido, Canadá e Austrália, onde os farmacêuticos podem prescrever ou alterar a prescrição médica, o conceito de automedicação não é compatível com o brasileiro, gerando diferenças importantes na análise dos dados7
Desde agosto de 2013, os farmacêuticos estão autorizados pelo Conselho Federal de Farmácia a prescreverem os medicamentos chamados de “venda livre” ou Over the Counter (OTC), que são aqueles para os quais não é exigida prescrição médica para a venda. Entre eles, inclui-se a grande maioria dos analgésicos, anti-inflamatórios e fitoterápicos8. Mesmo assim, considerando que essa autorização ainda é pouco reconhecida e utilizada no Brasil, optou-se por trabalhar com o conceito de automedicação proposto pela OMS e reiterado pela Anvisa.
Os prejuízos mais frequentes decorrentes da automedicação incluem gastos desnecessários, atraso no diagnóstico e na terapêutica adequada, reações adversas ou alérgicas e intoxicação2. A falta de informações sobre esse assunto e da obrigatoriedade da apresentação de receita médica no ato da compra de medicamentos de muitas classes farmacológicas são fatores que também contribuem para a automedicação9
São múltiplos os fatores que influenciam a automedicação. Entre indivíduos com menor poder aquisitivo, com menor escolaridade e que enfrentam maiores dificuldades no acesso aos serviços de saúde há maior prevalência dessa prática10.
Sendo os planos de saúde suplementares destinados principalmente à população com maior escolaridade e melhor renda, espera-se que esse grupo utilize em menor proporção a prática da automedicação. No entanto, um estudo que comparou o uso de automedicação entre usuários do SUS e de Plano de Saúde Suplementar (PSS) constatou não haver diferenças significantes9
É preciso colocar em pauta que, nos últimos anos, houve aumento considerável da população com acesso à atenção primária em saúde devido à implantação da Estratégia Saúde da Família (ESF) no sistema público de saúde. Nesse cenário, a maioria dos medicamentos prescritos é fornecida aos idosos pelo SUS, fato que pode desestimular o uso da automedicação, visto que, para ter acesso ao medicamento gratuito, eles precisam da receita médica11. É preciso considerar, no entanto, que 27,9% da população brasileira possui algum tipo de plano de saúde no país12
Há, porém, poucos estudos que avaliam a questão da automedicação de idosos usuários de planos de saúde suplementar. Portanto, considerando que estudar o perfil de utilização de medicamentos pela população idosa em diferentes contextos é fundamental para se ampliar o conhecimento sobre essa realidade e promover estratégias específicas de políticas públicas quanto ao Uso Racional de Medicamentos, propõe-se aqui analisar o perfil sociodemográfico e correlacionar com o uso de automedicação por idosos que utilizam PSS.
Trata-se de um estudo transversal com abordagem quantitativa. Foram analisadas as frequências absolutas e relativas de variáveis sociodemográficas dos idosos em relação ao consumo de medicamentos não prescritos em um município de médio porte, localizado na região centro-oeste do estado de São Paulo.
Esse município conta com aproximadamente 220 mil habitantes e a população idosa é de 29.124 pessoas. Em 2013, uma população de 28.724 pessoas na cidade possuía Plano de Saúde Suplementar e, desse contingente, 16,75% eram indivíduos com idade superior a 58 anos, segundo dados fornecidos pela operadora do plano de saúde. A partir desses dados, foi calculado o tamanho da amostra utilizando-se os seguintes parâmetros estatísticos: população idosa usuária do plano de saúde de 8.474 pessoas, prevalência de uso de medicamentos de 80%13, nível de confiança de 95%, margem de erro de 5%, resultando em 239 indivíduos.
Foram incluídas pessoas com 60 anos ou mais, independente do sexo, que não estavam hospitalizadas ou em Instituição de Longa Permanência e que possuíam PSS da operadora responsável pela maioria dos cadastros e atendimentos de saúde suplementar da cidade. As informações foram obtidas diretamente dos idosos capazes de se comunicar com clareza ou, caso contrário, da pessoa responsável por sua medicação (cuidador ou uma pessoa da família).
A composição da amostra ocorreu por sorteio após atribuição de números aos nomes da lista de idosos usuários da operadora, aos quais foram realizadas visitas domiciliares. Após três tentativas de visita sem sucesso, o nome foi excluído da lista de pesquisa e um novo sorteio foi realizado. Para obter-se os 239 idosos que compuseram a amostra, foram necessárias 427 visitas domiciliares: 1 indivíduo havia falecido, 25 não foram encontrados na residência após três visitas, 69 não aceitaram participar da pesquisa, havia 20 com endereços inexistentes, 20 não moravam no endereço fornecido e 3 estavam viajando. Para a coleta dos dados, foram realizadas entrevistas domiciliares utilizando questionário padronizado e semiestruturado, contendo os seguintes dados gerais referentes ao idoso: (1) Variáveis sociais: idade, sexo, estado civil e escolaridade; (2) Classe Social: baseada no critério de classificação econômica do Brasil, que estima o poder de compra das pessoas, estratificando-as em classes econômicas14
(3) Principais alterações que acometem a saúde do idoso; (4) Uso de Medicação: foram consideradas as medicações utilizadas em um período recordatório dos 15 dias anteriores à entrevista. O uso de automedicação foi caracterizado fazendo-se um comparativo entre a prescrição médica e a utilização independente desta. Foi solicitado pelo entrevistador que o idoso/cuidador trouxesse todos os medicamentos utilizados por ele para proceder a identificação. Esses medicamentos foram registrados segundo a composição de seus princípios ativos e os riscos.
Os dados foram transcritos para meio eletrônico utilizando o software SPSS versão 17. Para análise, foi utilizada a estatística descritiva e a comparação com a literatura. As análises inferenciais foram realizadas por meio do teste de qui-quadrado de Pearson ou pelo teste exato de Fisher. Em todas as conclusões obtidas pelas análises inferenciais, foi utilizado o nível de significância α igual a 5% (p ≤ 0,05).
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos da Faculdade de Medicina do município (Parecer 607.824 de 31/03/2014) após a assinatura da carta de anuência pela prestadora de plano de saúde, que foi coparticipante da pesquisa. Todos foram informados pela entrevistadora sobre a natureza do estudo, seus objetivos, métodos e benefícios previstos, potenciais riscos e possíveis incômodos antes de assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Dos 239 idosos entrevistados, 97,1% (232) fizeram uso de algum tipo de medicamento nos 15 dias que antecederam a entrevista. Desses, 53,9% (125) realizaram automedicação, conforme os critérios adotados nesta pesquisa. Quanto à proporção de uso de medicamentos (com/sem automedicação), em relação ao sexo, houve prevalência das mulheres entrevistadas. Em relação à associação do sexo com o uso de automedicação, o Teste Exato de Fisher indica que os homens apresentam maior tendência para seu uso.
Quanto à variável idade, encontrou-se associação significante com a prática de automedicação na faixa etária dos 60 a 69 anos (p = 0,046) e dos 80 a 89 anos (p = 0,040), segundo o teste de qui-quadrado de Pearson ou teste exato de Fisher. Nas demais variáveis, que se referem ao estado civil, etnia e religião, não foram encontradas associações significativas (Tabela 1).
Tabela 1 – Distribuição dos idosos usuários de PSS de acordo com a prática de automedicação e dados demográficos. Cidade de médio porte, São Paulo, Brasil – 2015 (continua)
Tabela 1 – Distribuição dos idosos usuários de PSS de acordo com a prática de automedicação e dados demográficos. Cidade de médio porte, São Paulo, Brasil – 2015 (conclusão)
Quanto aos dados sociais dos idosos entrevistados, destaca-se, na Tabela 2, que aqueles que moravam sozinhos apresentaram associação significante (p < 0,05) com a automedicação. Nos demais aspectos analisados: atividade profissional, com quem mora, classe social, tempo de plano de saúde, utilização do SUS e o responsável pelo pagamento do plano de saúde, não houve associações significativas. No entanto, salienta-se que, proporcionalmente, a maioria dos idosos (94,8%, n = 220) conta com plano de saúde há mais de cinco anos, 62,1% (144) dos idosos pagam o próprio plano de saúde e, além de utilizar o plano suplementar, também procuram por serviços públicos para atendimento das necessidades de saúde. Grande parte dos idosos (75%) vive com familiares e é aposentada (81,5%).
Tabela 2 – Distribuição dos idosos usuários de PSS de acordo com a prática de automedicação e dados sociais. Cidade de médio porte, São Paulo, Brasil – 2015
Tabela 2 – Distribuição dos idosos usuários de PSS de acordo com a prática de automedicação
Brasil – 2015
Em relação à automedicação utilizada pelos idosos, verifica-se uma maior frequência do uso de analgésicos, sendo a dipirona sódica, sozinha ou em associação, o componente mais utilizado por 40,6% (54); seguida do paracetamol, por 10,5% (14); dos fitoterápicos, por 9% (12); vitaminas, por 6,8% (9); e a nimesulida, utilizada por 6% dos idosos, conforme a Tabela 3.
Tabela 3 – Distribuição das frequências absolutas e relativas dos medicamentos utilizados na prática da automedicação pelos idosos entrevistados. Cidade de médio porte, São Paulo, Brasil – 2014
Dos usuários do PSS entrevistados, 53,9% haviam feito uso de automedicação nos 15 dias que antecederam a pesquisa. Em estudos realizados no serviço público de saúde de cidade de médio porte, a automedicação variou de 4% a 47% entre os idosos9,15. Os trabalhos brasileiros sobre o uso de automedicação entre idosos possuem, contudo, discrepâncias metodológicas, dificultando a comparação dos dados.
Muitos fatores podem estar relacionados à automedicação, entre eles, a cultura herdada da colonização do país – o hábito de armazenar medicamentos no domicílio, predispondo a riscos de uso indevido e utilização de medicamentos vencidos ou sem valor terapêutico pela armazenagem incorreta16,17. Há também constatação de que, em países com sistema de saúde pouco estruturado, a compra de medicamentos diretamente na farmácia passa a ser uma opção18. No Brasil, importantes mudanças vêm ocorrendo com vistas a ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, principalmente com a implantação da ESF, ainda que essa realidade não seja uniforme em todo o território nacional.
Em países com deficiências na estrutura do sistema de saúde como o Irã, a prevalência de automedicação entre os idosos na cidade de Kermanshah foi de 83%, e os motivos que levaram a isso foram os seguintes: satisfação com os resultados obtidos; ter consumido o medicamento anteriormente; dificuldade de conseguir uma consulta médica; e experiência prévia com a doença, além do fato de considerar que a doença não é séria19.
Já em um setor de emergência de um hospital escola da França, país com uma cobertura de saúde efetiva, foi constatado que 63,7% dos pacientes tinham feito uso de automedicação nas duas semanas que antecederam o inquérito e, desses, 1,7% apresentaram efeitos adversos relacionados à medicação. Para os autores, trata-se de um problema frequente e que não pode ser negligenciado pelo sistema de saúde6. No Brasil, em uma cidade de médio porte do estado de Minas Gerais, foi constatado que 63,88% dos idosos atendidos pelos Centros de Referência Municipais referiram práticas de automedicação e 35,45% mencionaram a presença de reações adversas20
Importantes iniciativas vêm sendo tomadas com a finalidade de evitar que isso ocorra. Entre elas, estão a ampliação do acesso aos serviços de saúde ocorrida nas últimas décadas e o aumento da oferta de medicamentos gratuitos enquanto uma garantia constitucional com a necessidade de apresentação da receita médica. Um importante avanço também é representado pela lei 6492/2006, que proíbe a venda de antibióticos sem receita médica, bem como as orientações do Ministério da Saúde para o uso racional de medicamentos21.
No presente estudo, embora a maioria dos idosos seja pertencente às classes sociais A e B, não houve diferenças estatisticamente significativas quando feita a comparação entre as classes sociais. É preciso considerar que o fato de o idoso ser conveniado a um PSS, de qualquer forma, indica uma diferenciação em relação à grande parte da população idosa brasileira que vive com um salário mínimo, além de muitos serem responsáveis pelo domicílio22 Aspecto relevante é o fato de os homens fazerem uso desse recurso com maior frequência, o que também foi revelado em outro estudo que constatou, ainda, que eles gastam mais com a aquisição de medicamentos quando comparados com as mulheres15. É certo que os homens são menos propensos a procurar os serviços e a cuidar da saúde, sendo possível que procurem alívio para os problemas por meio da automedicação.
Morar sozinho foi outro aspecto a que se associou o uso da automedicação entre os idosos estudados. Esse fato é importante visto que, aproximadamente, uma em cada sete pessoas idosas vive só, mesmo que essa proporção seja menor nos países em desenvolvimento e entre idosos com menor renda. Outro indicativo de que os idosos que vivem só são menos propensos a cuidarem adequadamente da saúde é o fato de que eles apresentam níveis pressóricos mais elevados se comparados aos demais idosos, o que reforça que tal grupo necessita de cuidados mais atentos dos profissionais da saúde23. A grande preocupação com a automedicação, especialmente entre os idosos, deve-se à possibilidade de interação medicamentosa. A automedicação pode ocasionar sérios problemas de saúde e consequências para a vida diária dos idosos, tais como a ocorrência de reações adversas, risco de uso de medicamentos inadequados e dificuldade de adesão ao tratamento farmacológico correto24 Mesmo assim, um estudo australiano considera que, frente ao crescente aumento dos custos da assistência à saúde, a automedicação torna-se uma importante opção no gerenciamento de condições comuns. Os autores citam estudo, realizado em 50 países, em que 95% dos participantes responderam que estavam dispostos a tal prática no caso de doenças comuns e de menor gravidade25. No entanto, reforçam que o sucesso dessa prática depende de ser empreendida de forma responsável, e que não existe um consenso global para que esse consumo seja realizado de forma segura. Para isso, seria necessário levar em consideração as características da droga e como ela é utilizada25. Os medicamentos sem prescrição mais utilizados pelos idosos entrevistados foram os analgésicos, anti-inflamatórios não esteroides (AINE), fitoterápicos e vitaminas. Essa parcela da população, por apresentar alterações fisiológicas e doenças frequentes do sistema musculoesquelético (destacando-se artrites, artroses e osteoporoses), tende à presença de dor que se caracteriza pela cronicidade, alta intensidade e limitação da autonomia12.
Por outro lado, a proporção maior de uso de automedicação para o alívio da dor (analgésicos, AINE, vitaminas e fitoterápicos) encontrada nessa pesquisa está em concordância com os dados da última Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) do país, de 2013. A PNS demonstrou que os processos álgicos foram prevalentes (16%) para que as pessoas deixassem de realizar atividades habituais diárias, inclusive os indivíduos maiores de 60 anos apresentaram maior frequência (11,5%) do que as demais faixas etárias12.
Os analgésicos simples como dipirona e paracetamol, os mais utilizados pelos participantes do presente estudo, também foram os medicamentos mais utilizados por idosos em outros estudos realizados no Brasil e em outros países26. A dipirona, embora largamente utilizada, é proibida em alguns países devido às reações adversas que pode provocar, entre elas, a agranulocitose e a anemia aplástica. Além disso, ela interage com medicamentos frequentemente utilizados pelos idosos, como a furosemida, a hidroclorotiazida, o propranolol e o carvedilol, diminuindo o efeito diurético e anti-hipertensivo; com a losartana, pode levar à hipotensão e ao aumento dos riscos de problemas renais; e com a varfarina, aumentar o risco de sangramento27
No Brasil, em 2001, a Anvisa considerou que haver uma relação favorável em relação ao custo/benefício da dipirona. Em análise da qualidade de amostras disponibilizadas em farmácias, porém, muitas foram reprovadas em importantes critérios, sendo este outro aspecto a ser considerado para sua utilização como automedicação ou não28. O paracetamol, ao interagir com a fenitoína e fenobarbital pode ter seu efeito terapêutico reduzido e aumentar a hepatotoxicidade; com a varfarina, aumenta o efeito anticoagulante. Além disso, reduz os efeitos terapêuticos da piperacilina, amicacina e gentamicina29
O uso de AINE, entre eles a nimesulida e o diclofenaco sódico, como automedicação pelos idosos do estudo representa uma condição a ser considerada, pois pode causar importantes efeitos adversos. Em análise das potenciais interações medicamentosas em prescrição de pacientes hipertensos, foi constatado que os AINE foram associados a praticamente todos os medicamentos utilizados no controle da pressão arterial, sendo que a ação de inibir a síntese renal de prostaglandinas e de reter fluídos orgânicos e sódio, atribuída a eles, antagonizam os efeitos dos fármacos anti-hipertensivos10. A hipertensão é a doença crônica que mais acomete os brasileiros (21,4%), sendo que, desses, 50,7% são idosos12.
Os fitoterápicos representaram 9% da automedicação utilizada pelos idosos que contam com PSS. Embora o uso desses medicamentos venha sendo incentivado pelas políticas públicas, sua forma de utilização, toxidade e eficácia ainda é pouco conhecida e os profissionais da saúde, pouco preparados para lidar com eles. Esses medicamentos são considerados alternativos aos medicamentos sintéticos, além de apresentarem um custo menos elevado10.
Os suplementos vitamínicos também são utilizados como automedicação pelos idosos entrevistados. Essa prática também foi observada em estudo realizado com idosos australianos, para os quais esse uso representa melhoria da saúde29.
A decisão do usuário na escolha do medicamento tem se baseado em prescrições anteriores (40%) e em sugestões de pessoas leigas (51%). Nas classes sociais mais favorecidas economicamente e com facilidade de acesso aos serviços médicos, a automedicação normalmente se deve à busca de solução imediata para o problema, sem que haja interrupção das atividades cotidianas, bem como por influência cultural30
A maioria dos idosos do Plano de Saúde Suplementar entrevistados fez uso de automedicação, sendo que as características que mais se associam a esse uso são ser do sexo masculino e morar sozinho, o que indica que eles precisam de maior atenção dos profissionais da saúde. Destaca-se que a maior proporção de uso de automedicação encontrada nesta pesquisa foi para o alívio da dor (analgésicos, AINE, vitaminas e fitoterápicos), o que está em concordância com os dados da última Pesquisa Nacional de Saúde feita no país, em 2013. Fica evidente que as políticas de saúde suplementar precisam estimular mais ações não medicamentosas no controle dos processos álgicos, haja vista que esse sintoma apresenta causas distintas.
Ao considerar essa uma prática comum mesmo para aqueles que têm PSS, ou seja, têm maior facilidade de acesso aos serviços de saúde, e que os medicamentos mais utilizados como automedicação possuem efeitos adversos e complicadas interações com outros medicamentos indicados para a faixa etária acima dos 60 anos, é importante o maior investimento em estratégias educativas como forma promoção e prevenção da saúde.
O presente estudo apresenta como limitações o fato de ser transversal. Além disso, os entrevistados pertencem a classes sociais mais altas, o que por certo não representa a totalidade dos idosos. Mesmo assim, acredita-se que ele contribui para importantes reflexões acerca da automedicação entre os idosos e sugere a necessidade de estudos mais amplos, com a exploração dos motivos que levaram a essa conduta e as consequências desse uso.
1. Concepção do projeto, análise e interpretação dos dados: Elaine Cristina Salzedas Muniz, Maria José Sanches Marin, Carlos Alberto Lazarini e Danielle Ruiz.
2. Redação do artigo e revisão crítica relevante do conteúdo intelectual: Maria José Sanches Marin, Carlos Alberto Lazarini e Flavia Cristina Goulart.
3. Revisão e/ou aprovação final da versão a ser publicada: Elaine Cristina Salzedas Muniz, Maria José Sanches Marin e Carlos Alberto Lazarini.
4. Ser responsável por todos os aspectos do trabalho na garantia da exatidão e integridade de qualquer parte da obra: Elaine Cristina Salzedas Muniz, Maria José Sanches Marin e Carlos Alberto Lazarini.
1. Bloom DE, Cafiero ET, Jané-Llopis E, Abrahams-Gessel S, Bloom LR, Fathima S, et al. The global economic burden of non-communicable diseases. Report by the World Economic Forum and the Harvard School of Public Health [Internet]. Genève: World Economic Forum; 2011 [citado em 2012 maio 20]. Disponível em: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Harvard_HE_Global EconomicBurdenNonCommunicableDiseases_2011.pdf
2. Sá MB, Barros JAC, Sá MPB. Automedicação em idosos na cidade de Salgueiro-PE. Rev Bras Epidemiol. 2007;10(1):75-85.
3. Arrais PSD, Coelho HLL, Batista MCDS, Carvalho ML, Righi RE, Arnau JM. Perfil da automedicação no Brasil. Rev Saúde Pública. 2013;31(1):71-7.
4. Organización Mundial de la Salud. El papel del farmacéutico en el autocuidado y la automedicación. Reporte de la 4ª Reunión del Grupo Consultivo de la OMS sobre el Papel del Farmacéutico [Internet]; 1998 ago 26-28; La Haya, Países Bajos. La Haya; 1998 [citado em 1998 ago 18]. Disponível em: https://onedrive.live.com/w.x?resid=7BE6A348B99749AC!199&ithint=file %2cdocx&authkey=!APdPPPU8R7_HLzs
5. Brasil. Ministério da Saúde. Política Nacional de Medicamentos. Brasília (DF); 2001.
6. Asseray N, Ballereau F, Trombert-Paviot B, Bouget J, Foucher N, Renaud B, et al. Frequency and severity of adverse drug reactions due to self-medication: a cross-sectional multicentre survey in emergency departments. Drug Saf. 2013;36(12):1159-68.
7. Federación Internacional Farmacéutica, Organización Mundial de la Salud. Directrices conjuntas FIP/OMS sobre buenas prácticas en farmacia: estándares para la calidad de los servicios farmacéuticos. Hyderabad; 2011.
8. Conselho Federal de Farmácia. Resolução nº 586, de 29 de agosto de 2013. Regula a prescrição farmacêutica e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil [Internet], Brasília (DF); 26 set 2013 [citado
em 2015 ago 20]. Disponível em: http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/ visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=136&data=26/09/2013
9. Duarte LR, Gianinni RJ, Ferreira LR, Camargo MAS, Galhardo SD. Hábitos de consumo de medicamentos entre idosos usuários do SUS e de plano de saúde. Cad Saúde Colet. 2012;20(1):64-71.
10. Santos JC, Faria M Jr, Restini CBA. Potenciais interações medicamentosas identificadas em prescrições a pacientes hipertensos. Rev Bras Clín Méd. 2012;10(4):308-17.
11. Stefano ICA. Uso de medicamentos por idosos: análise da prescrição, dispensação e utilização num município de médio porte-SP [dissertação]. Marília (SP): Faculdade de Medicina de Marília; 2015.
12. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa nacional de saúde 2013: acesso e utilização dos serviços de saúde, acidentes e violências: Brasil, grandes regiões e unidades da Federação. Rio de Janeiro (RJ); 2015.
13. Brasil. Ministério da Saúde, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Plano de cuidado para idosos na saúde suplementar [Internet]. Brasília (DF); 2012 [citado em 31 ago 2020]. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/ publicacoes/plano_cuidado_idosos.pdf
14. Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa. Critério de classificação econômica Brasil [Internet]. São Paulo (SP); 2013. [citado em 2013 dez 15]. Disponível em: http://www.abep.org/new/criterioBrasil.aspx
15. Flores VB, Benvegnú LA. Perfil de utilização de medicamentos em idosos da zona urbana de Santa Rosa, Rio Grande do Sul, Brasil. Cad Saúde Pública. 2008;24(6):1439-46.
16. Bueno CS, Weber D, Oliveira KR. Farmácia caseira e descarte de medicamentos no bairro Luiz Fogliatto do município de Ijuí/RS. Rev Ciênc Farm Básica Apl. 2009;30(2):75-82.
17. Martinez F, Goulart FC, Lazarini CA. Caracterização da prática de automedicação e fatores associados entre universitários do curso de enfermagem. Rev Eletrônica Enferm. 2014:16(3):644-51.
18. Valença CN, Germano RM, Menezes RMP. A automedicação em idosos e o papel dos profissionais de saúde e da enfermagem. Rev Enferm UFPE on-line. 2010;4(3):320-6.
19. Jafari F, Khatony A, Rahmani E. Prevalence of self-medication among the elderly in Dermanshah-Iran. Glob J Health Sci. 2015;7(2):360-5.
20. Chehuen Neto JA, Delgado AAA, Galvão CCGD, Machado SJM, Bicalho TC, Oliveira TA. Uso de medicamentos por idosos de Juiz de Fora: um olhar sobre a polifarmácia. HU Rev. 2012;37(3):305-13.
21. Brasil. Ministério da Saúde. Uso racional de medicamentos: temas selecionados. Brasília (DF); 2012.
22. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Síntese de indicadores sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira – 2013 [Internet]. Rio de Janeiro (RJ); 2013 [citado em 2014 maio 12]. Disponível em: http:// biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv66777.pdf
23. Camargos MCS, Rodrigues RN, Machado CJ. Idoso, família e domicílio: uma revisão narrativa sobre a decisão de morar sozinho. Rev Bras Estud Popul. 2001;28(1):217-30.
24. Santos VP, Lima WR, Rosa RS, Barros IMC, Boery RNSO, Ciosak SI. Perfil de saúde dos idosos muito velhos em vulnerabilidade social na comunidade. Rev Cuid. 2018:9(3):2322-37.
25. Stosic R, Dunagan F, Palmer H, Fowler T, Adams I. Responsible self-medication: perceived risks and benefits of over-the-counter analgesic use. Int J Pharm Pract. 2011;19(4):236-45.
26. Oliveira MA, Francisco PMSB, Costa KS, Barros M B A. Automedicação em idosos residentes em Campinas, São Paulo, Brasil: prevalência e fatores associados. Cad Saúde Pública. 2012;28(2):335-45.
27. Fick DM, Cooper JW, Wade WE, Waller JL, Maclean JR, Beers MH. Updating the Beers criteria for potentially inappropriate medication use in older adults: results of a US Consensus Panel of Experts. Arch Intern Med. 2003;163(22):2716-24.
28. Knappmann AL, Melo EB. Qualidade de medicamentos isentos de prescrição: um estudo com marcas de dipirona comercializadas em uma drogaria de Cascavel (PR, Brasil). Ciênc Saúde Colet. 2010:15(supl. 3):3467-76.
29. Goh LY. Vitry AI, Semple SJ, Esterman A, Luszcs MA. Self-medication with over-the-counter drugs and complementary medications in South Australia’s elderly population. BMC Complement Altern Med. 2009;9:42.
30. Aquino DS. Por que o uso racional de medicamentos deve ser uma prioridade? Ciênc Saúde Colet. 2008;13(supl.):733-6.
Recebido: 17.2.2018. Aprovado: 4.5.2020.
Roberto Ryanne Ferraz de Menezesa
Cristiano Corrêab
José Jéferson Rêgo e Silvac
Tiago Ancelmo Piresd
Abstract
This article presents the mapping and analysis of fires with dead and wounded people in the Metropolitan Region of Recife (MRR) served by the Firefighters Department from 2013 to 2016. There was an average rate of 1 death per million inhabitants, similar to countries such as Singapore and Vietnam. The weighted number of fires per wounded or dead person results in rates of 0.5 and 1.7 per 100 recorded fires, respectively. These numbers are concerning, especially when compared to rates from other regions in the world. The victims of fires in MRR were shown to generally not be a perceivable problem in terms of common sense, yet they are real and require accurate analysis and effective measures.
Keywords: Fires. Deaths. Injured people. Metropolitan Region of Recife. Residential buildings.
“ENTRE MORTOS E FERIDOS”: MAPEAMENTO, CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE
INCÊNDIOS COM VÍTIMAS NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE
Resumo
Este artigo apresenta o mapeamento e a análise de incêndios com mortes e feridos na Região Metropolitana do Recife – RMR, atendidos pelo Corpo de Bombeiros, no período de
a Master in Civil Engineering. Firefighters Department of Pernambuco. Recife, Pernambuco, Brazil. E-mail: robertorfmenezes@hotmail.com
b PhD in Civil Engineering. Firefighters Department of Pernambuco. Recife, Pernambuco, Brazil. E-mail: cristianocorreacbmpe@gmail.com
c PhD in Civil Engineering. Professor of Civil Engineering at Universidade Federal de Pernambuco. Recife, Pernambuco, Brazil. E-mail: jjregosilva@gmail.com
d PhD in Civil Engineering. Professor of Civil Engineering at Universidade Federal de Pernambuco. Recife, Pernambuco, Brazil. E-mail: tacpires@yahoo.com.br
Correspondence address: Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco. Av. João de Barros, n. 399, Boa Vista. Recife, Pernambuco, Brasil. CEP: 50050-180. E-mail: cristianocorreacbmpe@gmail.com
2013 a 2016. Verificou-se uma taxa média de 1 morte por milhão de habitantes, semelhante a países como Singapura e Vietnam. Quando se pondera a quantidade de incêndios para que haja um ferido ou morto, as taxas se apresentam respectivamente em 0,5 e 1,7 por 100 incêndios registrados – sendo estes números preocupantes, principalmente quando comparados com taxas de outras regiões no mundo. Conclui-se que as vítimas de incêndios na Região (RMR) são um problema silente ao senso comum, mas real e que exige análise acurada e providências efetivas. Palavras-chave: Incêndios. Mortes. Feridos. Região Metropolitana do Recife. Edificações residenciais.
“ENTRE MUERTOS Y HERIDOS”: CARTOGRAFÍA, CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS INCENDIOS CON VÍCTIMAS EN LA ZONA METROPOLITANA DE RECIFE
Resumen
Este artículo presenta la cartografía y análisis de incendios con muertes y heridos en la Zona Metropolitana de Recife (ZMR), atendidos por el Cuerpo de Bomberos, en el período de 2013 a 2016. Se ha verificado un promedio de 1 muerte por millón de habitantes, semejante a países como Singapur y Vietnam. Cuando se examina la cantidad de incendios para que haya un herido o muerto, los promedios se presentan respectivamente de 0,5 y 1,7 por 100 incendios registrados, lo cual es preocupante, principalmente en comparación con los promedios de otras regiones del mundo. Se concluye que las víctimas de incendios en la ZMR son un problema silencioso y real, lo que exige un análisis cuidadoso y diligencias efectivas.
Palabras clave: Incendios. Muertes. Heridos. Zona Metropolitana de Recife. Edificaciones residenciales.
Despite its importance for the development of civilizations, fire has always been a serious threat to human beings when out of control. The great tragedies lived during the last centuries were the milestone in the search to know better the behavior of fires and its consequences. In urban centers, fires often causes major tragedies with a considerable loss of patrimony and, more importantly, human lives, especially in crowded areas.
Our study was conducted in the Metropolitan Region of Recife (MRR), state of Pernambuco, located in the Northeast Brazil and formed by 14 municipalities, including the capital city. MRR has a population of more than 3.7 million people, representing over 45% of the population of the entire state of Pernambuco, residing in a territory that corresponds to less than 3% of the state extension (IBGE, 2016).
Besides this high population density, there are substandard constructions, known as favelas and slums, as well as tall buildings not always accompanied by the precautionary concerns appropriate to the risks. These factors catalyze the outbreak of fires and represent a challenge for fire safety in terms of minimizing deaths and injuries. During the triennium 2011-2013, the number of fires in the MRR increased more than 15%1. Nevertheless, the losses that affect not only the economy, but also social welfare, point to the cruelest aspect of these fires, that is, the victims: people who died or were wounded in fires2.
Regarding fire-related mortality and lethality, Paes3 points out that a statistical control would be very useful. However, this tool is underused in several Latin American countries, providing incomplete, outdated and imprecise data. In a global study performed by IAFRS/CTIF4, no data from Brazil or from another Latin American country was described, which can be interpreted as the non-existence or inconsistency of data.
In 2016 alone, 2,503 fires were registered in the Metropolitan Region of Recife, of which 835 were fires in buildings, representing 33.3% of the total number of fires in the MRR5. The high population density is a catalytic factor. Therefore, analyzing the fires in buildings by their mapping, constructive peculiarities, type of occupation, local estimation of primary foci, as well as the existing fire load, can effectively contribute to the implementation of public policies aimed at reducing the problem6
The method used in our research to measure and present data is based on the tabulation of data on events in MRR buildings that caused deaths and wounded people in the period from 2013 to 2016 obtained from the Military Firefighters Department of Pernambuco.
Thus, our study is based on the hypothetical deductive logic proposed by Lakatos and Marconi7. They suggest that the research hypothesis should collect subsidies for proof, considering the possible relation between lethal fires and their characterization in the area studied.
For such purpose, we selected all the occurrence reports of fires in buildings in the MRR from the Military Firefighters Department of Pernambuco between 2011 and 2013, and analyzed those that resulted in deaths and wounded people.
The analysis of the selected occurrence reports follows a pattern established in Brazil and allows a better appreciation of the fires, as well as the drawing of a profile of the scenario. Among the points observed are: victim’s information (gender and age), emergency address, event characteristics, rescue vehicles used, distance, response time, occurrence history, building characteristics, existing preventive systems, presumed origin of the fire, affected area, type of construction, and fields for observations, which may include, the place where the victim was found, injury site, damaged furniture, victims’ schooling, among other data judged important by the on-site team leader.
Some information received by the Fire Department was not collected directly with the affected family, but with neighbors and friends due to the emotional state of the relatives of the deceased or injured persons. In some cases, this result in the absence of some information. Furthermore, in a few cases, there was no one present to provide the data to firefighters, thus resulting in a limited number of information about the occurrence.
Demographic databases of the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) were also used in our research.
Fires in Brazilian urban centers result from the disorderly growth and the insufficient fire safety infrastructure of cities. Other factor is the creation and maintenance of favelas or conglomeration of sub-dwellings, composed of precarious constructions made almost exclusively of very flammable materials, with precarious facilities and equipment, becoming a “powder keg”8
Out of the 3,961 fires in the state of Pernambuco assisted by the Firefighters Department in 2016, 2,503 occurred in the MRR, of which 835 (33.3%) corresponded to fires in buildings, that is, in residences, shops, warehouses, hospitals, factories, schools, among others. The predominance of fires in buildings is evident; with a percentage very close to that worldwide (38.8%), according to IAFRS/CTIF4.
By computing the analyzed data of fires in buildings that caused deaths from 2013 to 2016, we found 16 occurrences with 16 deaths. Fires that resulted in wounded people, in turn, consisted in 49 occurrences with 61 victims, according to Table 1
Occurrences with deaths (2013 – 2016)
with wounded people from 2013 to 2016 in the MRR
Occurrences with wounded people from 2013 to 2016 in the MRR
Occurrences with wounded people from 2013 to 2016 in the MRR
Among the cases that resulted in death, 15 of the 16 buildings involved singlefamily residences, corresponding to 94% of the cases. Of those that resulted in wounded people, 88% were single-family residences, whereas 12% were classified as multifamily residences.
We can clearly observe the predominance of lethal fires in the MRR in single-family residences, or simply “houses”, usually built with a single floor and intended for single-family housing. We emphasize that this is the only Type of Building (TYPE A)9 without a preventive system against fires, according to the main laws and standards of fire safety in Brazil10. Fires in these households out of standards are characterized by confinement of flames in the rooms and free spread of smoke throughout the environment, thus generating a greater probability of injuries and even deaths11.
In a study by Santos11, in which he compared general fires with residential fires in the state of São Paulo in 2014. The author demonstrated that, although there is a small proportion of fires in households, the percentage of deaths in this type of building was high, close to 90%, in line with the data shown in Table 1. He also mentions that, in some countries, the strategy of using fire detectors as primary prevention is well accepted to mitigate fires with deaths, mainly night fires and those involving older adults and vulnerable people. The primary prevention of deaths in residential fires in Brazil is public education, seeking to avoid the main causes of fire.
For Zago et al.12, the likelihood of a fire to spread is reduced in buildings with smoke detectors, automatic showers, fire brigade and adequate divisions, which are not found in the houses. According to Corrêa et al.6, fires in single-family buildings account for almost 3/4 of household fires.
Table 2 shows some other observations made during data analysis.
Fires with deaths
(continued)
Fires with wounded people in the MRR from 2013 to 2016
from the
Fires with wounded people in the MRR from 2013 to 2016
In Table 2, we can verify that fires involving dead and injured people occurred mostly from 21:00 to 06:00h, representing 43% of the total number of occurrences. This often shows the fragility of residential buildings, mainly single-family dwellings. This type of house does not have internal preventive systems to recognize the beginning of a fire and equipment to control it, especially in hours when a large part of the population is already sleeping or less attentive, resting after an intense day of activities. However, 25% of the occurrences began between 10h and 14h, when many people cook, largely due to negligence and malpractice in the handling of gas cylinders.
The buildings that were burned in fires in the MRR during the studied period had diverse construction modalities. However, residential buildings, either single- or multi-family, were mostly made of masonry.
Masonry buildings have walls with structural and divisive function in the environments (structural masonry, resistant masonry). In the MRR, masonry buildings are mostly made of ceramic bricks, according to Figure 1







Figure 1 shows that the resistance of the structure is compromised not only by the absence of the coating layer, but also by the damages caused in the ceramic bricks. According to Leite et al.13, resistance to fires consists in the ability of a structural element to maintain the functions for which it was designed after a certain time on fire. Moreover, the building must remain fire resistant to ensure safe escape of occupants, as well as to ensure the safety of firefighting operations by firefighters and minimize the damage to adjacent buildings and to public infrastructure.
An average response time of approximately 13 minutes is seen for occurrences with fatalities, and 17 minutes for those, in which victims had only injuries. The average displacement was 10.5 km for fires with dead people and 8.8 km for those with injured people. Most of the occurrences happened between the night and dawn, which favors a low response time due to a smaller flow of vehicles. However, the night period hinders the aid of passers-by to access the affected places, which is important for the military firefighters, since the place is unknown in a considerable number of fires. Another complicating factor is the likelihood of risk related to the firefighters’ own physical safety when they arrive at the place of the fire, and the support and presence of the Military Police is required to enter certain neighborhoods; this specific situation can lead to a delay in the response time. Furthermore, almost half of the reports filled by firefighters pointed out the distance of more than 6 km from the base to the place of the fire as a difficulty in the response, followed by 20% that pointed out the lack of data and signs to find the address of the occurrence.
In the occurrences in the morning or afternoon, the heavy flow of vehicles combined with small streets makes the transit of large vehicles difficult. For Corrêa et al.14, the response to fires in buildings in the MRR comes from the base of the Military Firefighter Department of Pernambuco – MFDPE. These bases or barracks with fire fighting vehicles arrive to only six addresses, which is obviously a limiting factor, especially with the increase of the vehicle fleet in the MRR of more than 380% in 24 years (1990-2014), from 251.420 to 1.22 million motor vehicles, resulting in mobility difficulties15
It is noteworthy that among the deaths, five of the sixteen victims were less than 10 years old, showing the risk of both lack of knowledge and limitations in distinguishing and evaluating the danger. Table 2 shows the fire of November 14, 2015, in which the two children involved were 3 and 4 years old and the fire started when the two boys played with a cigarette lighter in a room. This case exemplifies the preponderant factor of harmful events of fires when children are involved, which is mainly their lack of awareness of the danger and their limitations to take action in the beginning of a tragedy.
Another factor associated with deaths is criminal action. This was the case of the fire that caused the death of a woman aged approximately 40 years, on October 25, 2015; a man apparently 40 years old, on August 05, 2016; and a man aged 43 years, on December 21, 2016. Another point to be mentioned is the involvement of people with mental disorders that can lead to suicidal actions, such as the case in five occurrences involving deaths and other five involving wounded people. Regarding the fire-generating factors, 20% of the reports indicated that the fire started due to bad handling of the cooking gas cylinders.
Among the 65 occurrences involving deaths and injured people, only 10% occurred in multi-family residences, whereas 90% occurred in single-family residences, mostly located on the suburb of cities. In addition to the existence of preventive systems, although restricted, in multifamily buildings, is another characteristic favorable to lower percentage of lethal events is the profile of the people living in these buildings, generally located in rich areas of the cities. These people have a higher schooling when compared with the population living in

the suburbs, in houses with poor facilities16. The higher level of schooling and, consequently, the knowledge of what to do in emergencies were possibly factors that minimized greater damages to these people.
Since wounds and deaths caused by fires are a concern not only of the local Firefighter Department, we tried to compare the MRR with other countries and cities. Regarding the number of deaths, the MRR presents a proportion of 0.1 deaths per 100,000 inhabitants (2014), very close to the figures in countries such as Singapore and Vietnam4. Regarding injured victims, the MRR presented close values to those in Ukraine and Bulgaria, and worse values than Singapore, Vietnam, Croatia and Slovenia, with a proportion of 0.35 per 100,000 inhabitants.
In an analysis that estimates the proportion of the number of dead and injured people in relation to the number of fires assisted in the MRR, it was seen the proportion of 1 death each 195.5 fires and 1 wounded person each 60.1 fires. Compared to Table 3, regarding the number of deaths per 100 fires, the MRR has the worst rate among all countries/regions listed, whereas in the case of the number of injured individuals per 100 fires, the MRR is ahead only of France, Great Britain and Singapore.
With a considerable number of fires that have generated deaths and injured people over the last 4 years, compared to other places in the world, the probability of the occurrence of new events in the Metropolitan Region of Recife is not low, mainly due to the high population density allied to substandard constructions and vertical constructions that are not always planned considering the precautionary concerns appropriate to the risks.
Present in 1/3 of all fires recorded in the MRR, house fires stand out as the leading cause of dead and injured people. The lack of preventive systems in single-family buildings is a catalytic factor. According to the data collected in our research, single-family residences were involved in 94% of the fires that resulted in deaths and 88% of those that caused injuries to the victims.
A factor that must be improved to provide more accurate data for possible studies is the completion of the reports by the Firefighter Department. Despite the absence of documents of some fires, all information collected should be considered in the report of the occurrence, including those provided by informants, even in the fields of observations.
Thus, the population’s awareness on preventive measures to be adopted is an important task of the Military Firefighter Department of Pernambuco in the fight against the minimization of problems produced by the fires. Moreover, it is necessary to work with children so that they not only pass on the knowledge to their families, but also develop the perception of risks and dangers from fire-propagating actions, since they are statistically the most involved in this scenario of human losses.
Therefore, the monitoring and evaluation of public strategies and policies that strengthen the mitigation of problems are essential to minimize fire-related accidents, especially those involving residential buildings.
Due to the high risk of fires in single-family and multi-family dwellings, we recommend to study a technical standard for this type of buildings, raising questions such as equipment that may contribute to the identification of the beginning of a fire, the attitude of the population in response to the incident, and improved response time of firefighting teams and other measures that preserve people’s integrity.
Further studies are needed to deepen questions related to fatality related to fires and to ratify the figures presented in our study by quantitative and qualitative assessments, thus allowing us to increasingly provide information to managers for decision making to reduce the number of dead and injured people.
1. Study conception, data analysis and interpretation: Roberto Ryanne Ferraz de Menezes, Cristiano Corrêa, José Jéferson Rêgo e Silva and Tiago Ancelmo Pires.
2. Article writing and critical review: Roberto Ryanne Ferraz de Menezes and Cristiano Corrêa.
3. Critical review and/or approval of final version: José Jéferson Rêgo e Silva and Tiago Ancelmo Pires.
4. Public responsibility of the intellectual content: Roberto Ryanne Ferraz de Menezes.
1. Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, Diretoria Integrada Metropolitana. Estudos estatísticos operacionais: triênio 2011-2013. Recife (PE); 2015.
2. Corrêa C, Silva JJR, Pires TA. Mortes em incêndios em edificações: uma análise da cidade de Recife no ano de 2011. Interações. 2017;18(4):69-79.
3. Paes NA. Qualidade das estatísticas de óbitos por causas desconhecidas dos estados brasileiros. Rev Saúde Pública. 2007;41(3):436-45.
4. Brushlinsky NN, Ahrens M, Sokolov SV, Wagner P, Center of Fire Statistics. World fire statistics [Internet]. Report No.: 21. Ljubljana: International Association of Fire and Rescue Services; 2016 [cited 2017 Jan 27]. Available from: http:// www.ctif.org/sites/default/files/ctif_report21_world_fire_statistics_2016.pdf
5. Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, Diretoria Integrada Metropolitana. Estudo estatístico operacional: 2016. Recife (PE); 2017.
6. Corrêa C, Rêgo Silva JJ, Pires TA, Braga GC. Mapeamento de incêndios em edificações: um estudo de caso na cidade do Recife. Rev Eng Civ IMED. 2015;2(3):15-34.
7. Lakatos EM, Marconi MA. Fundamentos de metodologia científica. São Paulo (SP): Atlas; 2011.
8. Del Carlo U. A segurança contra incêndio no Brasil. In: Seito AI, Gill AA, Pannoni FD, Ono R, Silva SB, Del Carlo U, Silva VP. A segurança contra incêndio no Brasil. São Paulo (SP): Projeto; 2008. p. 9-18.
9. Pernambuco. Decreto-Lei nº 19.644, de 13 de março de 1997. Regulamenta o Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico (Coscip-PE). Diário Oficial do Estado, Recife (PE); 1997 Mar 14.
10. Corrêa C, Braga GC, Bezerra J Jr, Rêgo Silva JJ, Tabaczenski R, Pires TA. Incêndio em compartimento de residência na cidade do Recife: um estudo experimental. Rev ALCONPAT. 2017;7(3):215-30.
11. Santos MP. Uso de detectores de incêndio para redução de mortes ocasionadas por incêndios em residências unifamiliares. Rev FLAMMAE. 2016;2(3):262-4.
12. Zago CS, Moreno AL Jr, Marin MC. Considerações sobre o desempenho de estruturas de concreto pré-moldado em situação de incêndio. Ambient Constr. 2015;15(1):49-61.
13. Leite HAL, Moreno AL Jr, Torres DL. Dimensionamento da alvenaria estrutural em situação de incêndio: contribuição à futura normatização nacional. Ambient Constr. 2016;16(2):89-107.
14. Corrêa C, Rêgo Silva JJ, Braga GC. Incêndios com letalidade, território e trânsito: considerações iniciais sobre os casos em Recife no ano de 2011. Rev Transp Público. 2016;143:109-24.
15. Departamento de Trânsito de Pernambuco. Frota de veículos da Região Metropolitana do Recife – RMR [Internet]. Recife (PE); 2015 [cited 2015 July 10]. Available from: http://www.detran.pe.gov.br/images/stories/estatisticas/ HP/1.6_frota_rmr.pdf
16. Cavalcanti H, Lyra MRB, Avelino E. Mosaico urbano do Recife: inclusão/ exclusão socioambiental. Recife (PE): Fundação Joaquim Nabuco; 2008.
Received: 5.30.2019. Approved: 5.24.2020.
Aurean D’eça Juniora Livia dos Santos Rodriguesb
Raina Jansen Cutrim Propp Limac
Thaís Natália Araújo Botentuitd
Josiel Guedes da Silvae
Rosângela Fernandes Lucena Batistaf
Resumo
Apesar dos avanços, as taxas de aleitamento materno complementado antes dos seis meses de vida ainda são altas. Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi estimar a prevalência de aleitamento materno complementado e analisar seus fatores associados em uma coorte de nascimento realizada em São Luís, Maranhão, Brasil. Trata-se de um estudo transversal utilizando os dados da Coorte de Nascimentos BRISA (Brazilian Birth Cohort Studies). Para analisar os fatores associados ao desfecho de aleitamento materno complementar foi construído um modelo teórico hierarquizado no qual as variáveis socioeconômicas e demográficas, de assistência pré-natal e reprodutivas, além de características da criança, foram divididas em três níveis. Realizou-se então a regressão de Poisson com ajuste robusto da variância bivariada e multivariada a fim de estimar as razões de prevalência (RP) e seus respectivos intervalos de confiança não ajustados e ajustados, utilizando
a Enfermeiro. Doutor em Saúde Coletiva. Docente do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão. São Luís, Maranhão, Brasil. E-mail: aureandjr@yahoo.com.br
b Enfermeira. Doutora em Saúde Coletiva. Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. E-mail: livia.s.r@hotmail.com
c Nutricionista. Doutoranda em Saúde Coletiva pela Universidade Federal do Maranhão. Docente do Instituto Federal do Maranhão. Açailândia, Maranhão, Brasil. E-mail: raina_propp@hotmail.com
d Enfermeira. Mestranda em Enfermagem. Universidade Federal do Maranhão. São Luís. Maranhão. Brasil. E-mail: thaisbotentuit88@gmail.com
e Acadêmico de Medicina. Universidade Federal do Maranhão. São Luís. Maranhão. Brasil. E-mail: josielguedes.jg@gmail.com
f Enfermeira. Doutora em Ciências Médicas. Docente do Departamento de Saúde Pública da Universidade Federal do Maranhão. São Luís. Maranhão. Brasil. E-mail: rosangela.flb@ufma.br
Endereço para correspondência: Universidade Federal do Maranhão, Departamento de Enfermagem. Av. dos Portugueses, n. 1.966, Vila Bacanga. São Luís, Maranhão, Brasil. CEP: 65080-805. E-mail: aureandjr@yahoo.com.br
o programa estatístico STATA 14.0. Na amostra, de 3.107 crianças avaliadas, 60,4% das mães relataram realizar aleitamento materno complementado antes dos seis meses de vida.
Obteve-se como fatores de risco para o aleitamento complementado não ter realizado pré-natal (RP 1,32; IC95% 1,09-1,60), usar chupeta atualmente (RP 1,38; IC95% 1,30-1,47)
ou já ter usado (RP 1,28; IC95% 1,15-1,41) e ser pré-termo (RP 1,11; IC95% 1,03-1,20).
Assim, conclui-se que a prevalência de aleitamento materno complementado acompanha a média nacional, podendo-se identificar os fatores associados em São Luís, o que permite traçar intervenções e ações mais eficientes em Saúde Pública.
Palavras-chave: Aleitamento materno. Estudos transversais. Associação.
Abstract
Despite advancements in this field, supplemented breastfeeding rates before the six months of life are still high. This cross-sectional study estimated the prevalence of supplemented breastfeeding and analyzed its associated factors in a birth cohort in São Luís, Maranhão, with use of data from the Brazilian Birth Cohort Studies (BRISA). To analyze the factors associated with the outcome of supplementary breastfeeding, a hierarchical theoretical model was constructed in which socioeconomic and demographic variables, prenatal and reproductive care, and child characteristics were divided into three levels. Poisson regression was performed with robust adjustment of the bivariate and multivariate variance to estimate prevalence ratios (PR) and their respective unadjusted and adjusted confidence intervals using the statistics program STATA 14.0. Out of the 3.107 children evaluated, 60.4% of mothers reported completing breastfeeding before the child had six months. The following risk factors for supplementary breastfeeding were found: not undergoing prenatal care (PR 1.32, 95% CI 1.09-1.60), child currently using pacifier (PR 1.38, 95% CI 1.30-1.47), having previously used one (RP 1.28, 95% CI 1.15-1.41), and being preterm (RP 1.11, 95% CI 1.03-1.20). The prevalence of supplementary breastfeeding follows the national average and the associated factors can be identified in São Luís. This allows for a more effective intervention and actions in Public Health.
Keywords: Breast feeding. Cross-sectional studies. Association.
A pesar de los avances, las tasas de lactancia materna complementadas antes de los seis meses de vida siguen siendo altas. El objetivo de este estudio fue estimar la prevalencia de la lactancia materna complementada y analizar sus factores asociados en una cohorte de nacimiento en São Luís (MA, Brasil). Es un estudio transversal que utiliza datos de la cohorte de nacimiento de BRISA (Brazilian Birth Cohort Studies). Para analizar los factores asociados con el resultado de la lactancia materna complementaria, se construyó un modelo teórico jerárquico en el que las variables socioeconómicas y demográficas, la atención prenatal y reproductiva y las características del niño se dividieron en tres niveles. La regresión de Poisson se realizó con un ajuste robusto de la varianza bivariada y multivariada para estimar los índices de prevalencia (RP) y sus respectivos intervalos de confianza no ajustados y ajustados utilizando el programa estadístico STATA 14.0. En la muestra de 3107 niños evaluados, el 60,4% de las madres informaron haber completado la lactancia antes de los seis meses. Los factores de riesgo para la lactancia materna complementada fueron: no haber realizado atención prenatal (PR 1,32, IC95% 1,09-1,60), usar chupete actualmente (PR 1,38, IC95% 1,30-1,47) o ya haberlo usado (RP 1,28, IC 95% 1,15-1,41) y ser prematuros (RP 1,11, IC 95% 1,03-1,20). Se concluye que la prevalencia de la lactancia materna complementada acompaña al promedio nacional y los factores asociados se pueden identificar en São Luís, lo que permite la elaboración de intervenciones y acciones más efectivas en salud pública.
Palabras clave: Lactancia materna. Estudios transversales. Asociación.
A amamentação tem efeito na saúde das crianças em curto, médio e longo prazo, além de influência significativa na saúde da mulher. Crianças amamentadas têm menor morbimortalidade infecciosa, melhora na inteligência e provável redução no excesso de peso e diabetes. Mulheres que amamentam estariam protegidas do câncer de mama, de ovário e de diabetes tipo 21.
A recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS) é de que bebês sejam exclusivamente amamentados nos primeiros seis meses de vida, pelo fato da amamentação ser uma maneira inigualável de nutrir e proporcionar crescimento e desenvolvimento2. Porém, diversos fatores podem influenciar o aleitamento materno, como idade da mãe, escolaridade,
atitude em relação ao aleitamento, trabalho materno, condições socioeconômicas e de vida da família, orientações durante o pré-natal, pós-parto e puericultura3. Além desses fatores, há o uso de bicos artificiais e chupetas, desaconselhados pela OMS por estarem associados ao término precoce do aleitamento materno, diminuindo o tempo gasto de sucção no peito2
A complementação do leite materno com água ou líquidos não nutritivos é desnecessária nos primeiros seis meses de vida e tem sido associada à menor duração do aleitamento materno, pois reduz o número de mamadas e diminui o volume de leite produzido4
Em estudo de meta-análise, Victora et al.1 verificaram que a predominância de taxas de aleitamento materno exclusivo (AME) em crianças de seis meses eram inferiores ao preconizado pela OMS. As taxas de crianças menores de seis meses que não estavam em amamentação exclusiva eram de 53% nos países de baixa renda, 61% nos países de média renda e 63% nos países de alta renda. Os autores ressaltaram que apesar da amamentação ter sido mais prevalente nos países pobres, as baixas taxas de AME permanecem um desafio nesses locais1. Segundo a II Pesquisa de Prevalência em Aleitamento Materno, realizada no Brasil, o Nordeste detém o menor índice de AME (37%). Dessa maneira, é importante a identificação de fatores associados à introdução inadequada de alimentos para complementar o leite materno. Assim, diante do exposto, este estudo objetivou estimar a prevalência de aleitamento materno complementado e analisar seus fatores associados em uma coorte de nascimento realizada em São Luís, Maranhão.
Trata-se de um estudo transversal utilizando os dados de São Luís da coorte de nascimento “Fatores etiológicos do nascimento pré-termo e consequências dos fatores perinatais na saúde da criança: coortes de nascimentos em duas cidades brasileiras”, BRISA (Brazilian Birth Cohort Studies).
A primeira fase do estudo foi iniciada no nascimento em dez unidades hospitalares públicas e privadas no período de janeiro a dezembro de 2010, incluindo 96,7% de todos os nascimentos de São Luís. Nesse ano, ocorreram 21.401 nascimentos nas unidades selecionadas, sendo escolhidos um terço por sorteio (7.133). Destes, 5.475 nascimentos foram de mulheres residentes no município por pelo menos três meses e, portanto, elegíveis para o estudo. A amostra foi composta por 5.236 puérperas e, depois da exclusão de 70 natimortos, foi constituída por 5.166 nascimentos. O tamanho da amostra para 2010 foi calculado com base no número de
partos hospitalares ocorridos em São Luís em 2007, sendo estabelecido em 5 mil nascimentos. Esse número permitiu estimar taxas de prevalência em torno de 50% (inserindo 50% como a prevalência estimada que resulta no maior tamanho de amostra) com precisão relativa de 2% e nível de confiança de 99%. Também foi possível comparar duas proporções, considerando 5% de probabilidade de erro tipo I e 80% de poder de estudo, trabalhando com o produto máximo de p × q (proporção de 50% do evento) e estabelecendo a diferença mínima significativa para detecção em 4%. Para taxas de prevalência inferiores a 50%, seria possível detectar diferenças (detectar uma diferença relativa de 3% para uma taxa de prevalência de 10% e uma diferença relativa de 2% para uma taxa de prevalência de 5%)5
Na segunda fase, de abril de 2011 a março de 2013, quando as crianças tinham de 12 a 36 meses, todas as mães que participaram da primeira etapa foram convidadas para nova avaliação. Em razão da impossibilidade de contato por mudança de número telefônico ou endereço e recusas, a amostra do seguimento foi de 3.308 crianças. No entanto, para este estudo, foram excluídas as crianças que não tinham informação sobre tempo de amamentação, totalizando 3.107 na amostra final.
Para analisar os fatores associados ao desfecho de aleitamento materno complementar foi construído um modelo teórico hierarquizado no qual as variáveis explanatórias foram divididas em três níveis.
Nesse modelo, assumiu-se que características socioeconômicas e demográficas influenciam nas variáveis de assistência pré-natal e reprodutivas, que, por sua vez, influenciam em características da criança, que, por fim, influenciaram no desfecho (Figura 1)
O nível distal incluiu dados socioeconômicos e demográficos, tendo como variáveis explicativas distais: classificação econômica brasil (CEB) (classes A/B, C e D/E), escolaridade materna em anos de estudo (1 a 4, 5 a 8, 9 a 11 e 12 ou mais), a idade materna (<20 anos, 20-34 anos e 35 anos ou mais), a ocupação do chefe de família (não qualificada, manual não especializada, manual especializada, escritório, superior ou gerente/proprietário), a raça (branca, preta/negra, parda/mulata/cabocla/morena e amarelo/oriental) e a situação conjugal da mãe (com ou sem companheiro).
O nível intermediário incluiu como características da assistência pré-natal e reprodutivas as variáveis explicativas intermediárias: realização do pré-natal (sim ou não), se recebeu orientação sobre amamentação (sim ou não) e o número de filhos nascidos vivos (nenhum, 1 a 4 e 5 ou mais).
Figura 1 – Modelo teórico de investigação dos fatores associados ao aleitamento materno complementado de uma coorte de nascimento. São Luís, Maranhão
Bloco 1. Variáveis socioeconômicas e demográficas:
Idade materna
Escolaridade materna
Ocupação do chefe da família
Raça materna
CEB
Situação conjugal
Bloco 2. Variáveis da assistência pré-natal e reprodutiva
Fez pré -natal
Recebeu orientação sobre amamentação
Número de filhos
Bloco 3. Variáveis da criança
Chupou dedo
Usou chupeta
Usou mamadeira à noite
Distal
Intermediário
Proximal
Pré-termo
Pré - termo Internação
Percepção da mãe sobre a saúde da criança
Variável resposta/desfecho
A leitamento materno complementado
Fonte: Elaboração própria.
O nível proximal incluiu como variáveis explicativas proximais as características da criança: se chupou dedo (nunca chupou, chupa atualmente ou parou de chupar), se usou chupeta (nunca chupou, chupa atualmente ou parou de chupar), se usava mamadeira à noite (sim ou não), ter nascido pré-termo (sim ou não), internação (sim ou não) e percepção materna sobre a saúde da criança (excelente/muito boa, boa ou regular/ruim).
O desfecho de aleitamento materno complementado é conceituado pelo Ministério da Saúde6 como a ingestão de qualquer alimento sólido ou semissólido com a finalidade de complementar o leite materno, e não de substituí-lo. Assim, neste estudo, consideramos que a criança estava em aleitamento materno complementado quando, além do leite materno,
houve a introdução de leite (líquido ou em pó), leite tipo fórmula, outros líquidos (chás, sucos), semissólidos ou sólidos na dieta da criança antes dos seis meses de vida.
Os dados foram tabulados e analisados no programa estatístico Software for Statistics and Data Science – STATA 14.0. A análise descritiva das variáveis foi realizada por meio de frequências absolutas e relativas.
Para a análise de associação entre as variáveis explicativas e o desfecho foram realizadas análises de regressão de Poisson com ajuste robusto da variância bivariada e multivariada, a fim de estimar razões de prevalência (RP) e seus respectivos intervalos de confiança não ajustados e ajustados.
Iniciou-se a análise a partir do nível mais distal, com as variáveis desse nível que haviam apresentado p<0,20 na bivariada. As que permaneceram com p<0,20 nessa análise foram introduzidas como fatores de ajuste nos níveis seguintes. Procedeu-se da mesma forma com o nível intermediário, permanecendo as variáveis com p<0,20 como fatores de ajuste para o nível proximal. Finalmente, mantidos os fatores de ajuste dos níveis distal e intermediário, foram introduzidas as variáveis do nível proximal. Foram consideradas associadas ao desfecho as variáveis que apresentaram p<0,05 no modelo final, considerando um IC de 95%.
O estudo atendeu aos critérios das Resoluções n. 466, de 12 de dezembro de 2012, e n. 510, de 7 de abril de 2016, do Conselho Nacional de Saúde e suas complementares e foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão sob parecer consubstanciado com o nº 223/2009, protocolo: 4771/2008-30.
Na amostra, 60,4% das mães relataram realizar aleitamento materno complementado antes dos seis meses de vida da criança. Pertenciam à classe econômica C 57,3%, 62,7% tinham de 9 a 11 anos de estudo, 74,1% estavam na faixa etária de 20 a 34 anos, 23,3% exerciam atividade laboral em escritório, 68,1% autodeclaram ter cor parda/mulata/ cabocla/morena, 80,2% viviam com companheiro, 98,8% afirmaram ter realizado pré-natal e 69,1% disseram ter recebido orientações sobre amamentação. Sobre aspectos de saúde e de vida da criança, as mães relataram que 90,5% nunca chuparam dedo, 69,4% nunca usaram chupeta, 71,7% não usaram mamadeira, 88,3% das crianças nasceram de parto a termo, 78,8% nunca foram internados e 47,8% das mães classificaram a saúde dos filhos como boa (Tabela 1).
Tabela 1 – Características sociodemográficas e obstétricas da mãe e aspectos de vida da criança, São Luís, Maranhão – 2010-2013 (continua)
Tabela 1 – Características sociodemográficas e obstétricas da mãe e aspectos de vida da criança, São Luís, Maranhão – 2010-2013 (conclusão)
Na análise não ajustada do Bloco distal, as variáveis CEB, escolaridade, idade materna, raça/cor da mãe e situação conjugal apresentaram associação estatisticamente significante com o aleitamento materno complementado. No bloco intermediário, realizar pré-natal foi a variável associada com o desfecho em análise. As variáveis fazer uso de chupeta, usar mamadeira, nascimento pré-termo, ter sido internado e percepção de saúde estiveram também associadas significativamente com o aleitamento materno complementado (Tabela 2).
Tabela 2 – Análise não ajustada entre as características socioeconômicas, demográficas, obstétricas da mãe, aspectos de vida da criança e aleitamento materno complementado. São Luís, Maranhão – 2010-2013
Tabela 2 – Análise não ajustada entre as características socioeconômicas, demográficas, obstétricas da mãe, aspectos de vida da criança e aleitamento materno complementado. São Luís, Maranhão – 2010-2013 (conclusão)
Na análise ajustada, obteve-se como fatores de risco para o aleitamento
complementado: não ter realizado pré-natal (RP 1,32; IC95% 1,09-1,60), usar atualmente
chupeta (RP 1,38; IC95% 1,30-1,47) ou ter parado de usar chupeta (RP 1,28; IC95% 1,15-1,41) e ser pré-termo (RP 1,11; IC95% 1,03-1,20) (Tabela 3).
Tabela 3 – Análise ajustada entre as características socioeconômicas, demográficas, obstétricas da mãe, aspectos de vida da criança e aleitamento complementado. São Luís, Maranhão – 2010-2013
Os resultados mostram que a maioria das crianças esteve em aleitamento complementado antes dos seis meses, acompanhando a média nacional, que mostra que 59% das mães relataram não amamentar exclusivamente até os 6 meses7,8. Foram fatores de risco para isso “não ter realizado pré-natal”, “ter usado ou estar usando atualmente chupeta” e “ter nascido pré-termo”.
A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher9 relatou que somente 38,6% das crianças estavam em AME até os seis meses, sendo esse percentual semelhante aos achados neste estudo, demonstrando que o padrão de desmame precoce local se assemelha aos padrões nacionais e teve poucas modificações com relação aos anos posteriores, no que tange ao desfecho de aleitamento complementado. Observa-se que a introdução de leite não materno precocemente ainda se configura um fator importante até entre os amamentados9
Apesar dos percentuais apresentados ainda serem baixos, o Brasil se destaca como um país que apresenta estratégias governamentais para melhoria nos padrões de amamentação10.
Venâncio et al.11 destacam que, em uma década, ocorreu uma melhora da tendência do aleitamento materno em nível nacional, principalmente nas capitais brasileiras – parâmetro que sofreu mudança significativa por conta de políticas públicas e iniciativas como o Hospital Amiga da Criança12, a expansão da Rede Brasileira de Bancos de Leite e a Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil13, com aumento da prática do aleitamento materno a partir de 198014 Estudos vêm mostrando que apesar dos percentuais de AME estarem melhorando, fatores de risco ainda persistem e são semelhantes aos encontrados nesta pesquisa. É sabido que as consultas adequadas em número e qualidade são extremamente necessárias para garantir o bem-estar materno-infantil durante a gestação, o parto e o puerpério, e isso inclui, por exemplo, orientações sobre amamentação. As abordagens acerca do aleitamento materno durante o atendimento pré-natal são decisivas para a garantia do exercício do direito da mulher de amamentar o seu filho, possibilitando reflexão sobre essa prática, conhecimento dos seus direitos e a preparação para o seu manejo15. Em pesquisa realizada por Volpato et al.16, 70,3% das gestantes relataram ter recebido alguma informação sobre aleitamento materno.
O Ministério da Saúde destaca que em São Luís, no ano de 2008, 42,7% (IC95% 37,8-47,7) das crianças com menos de 12 meses de vida e 32,1% (IC95% 28,3-36,2) usaram mamadeira e chupeta, respectivamente7. O uso desses bicos artificiais vem sendo relatado na literatura como tendo potencial de interferir nas boas práticas de alimentação infantil, gerando interrupção17, descontinuidade do aleitamento materno, desmame precoce, doenças diarreicas, infecções e aumento da mortalidade infantil18-20, apesar de uma revisão sistemática apontar que o uso de chupetas em lactantes saudáveis não alterou de forma significativa a prevalência e a duração de aleitamento, tanto exclusivo quanto parcial, ou propiciou outras dificuldades para as mães durante a amamentação nos 4 meses iniciais21. Estudos apontam que o ato de “chupar o dedo”, hábito não nutritivo22, é menos frequente nas crianças amamentadas23,24, o que poderia explicar o percentual encontrado neste estudo.
Nascimento pré-termo parece estar relacionado também a um menor tempo de amamentação, assim como neste estudo, pois as mães desses bebês podem ter barreiras emocionais e psicológicas que dificultam o início e a manutenção da amamentação25. A esse fato, soma-se o uso de mamadeiras e chupetas, que pode causar uma “confusão de bicos” no lactente, levando ao desmame precoce26.
Freitas et al.27, em uma coorte retrospectiva de 103 prematuros acompanhados de 2010-2015 em Viçosa (MG), concluíram que em prematuros com idade inferior a 37 semanas, a duração mediana do aleitamento materno foi de 5 meses, sendo o risco 2,6 maior de se interromper a amamentação de crianças abaixo de 32 semanas. Em prematuros com
leite humano complementado na primeira consulta pós-alta, o risco foi três vezes maior de interrupção do aleitamento, comparado com AME nessa ocasião27
Assim, este estudo estimou a prevalência de aleitamento materno complementado e identificou como seus fatores associados em São Luís: não ter realizado pré-natal (RP 1,32; IC95% 1,09-1,60), usar atualmente chupeta (RP 1,38; IC95% 1,30-1,47) ou ter parado de usar chupeta (RP 1,28; IC95% 1,15-1,41) e ser pré-termo (RP 1,11; IC95% 1,03-1,20). Resultados como esses permitem traçar intervenções mais eficientes e fortalecer ações e políticas em saúde pública. No que se refere às limitações do estudo, ressalta-se o seu tipo, uma vez que se trata de uma abordagem transversal, não podendo verificar associações causais. No entanto, destacam-se como pontos fortes a utilização de amostra proveniente de uma coorte populacional e a análise estatística, que objetivou verificar os fatores associados por meio de análise hierarquizada, avaliando as variáveis socioeconômicas/demográficas, as relacionadas ao pré-natal e parto, e, posteriormente, as variáveis relacionadas à criança.
1. Concepção do projeto, análise e interpretação dos dados: Aurean D’eça Junior, Livia dos Santos Rodrigues e Rosângela Fernandes Lucena Batista.
2. Redação do artigo e revisão crítica relevante do conteúdo intelectual: Aurean D’eça Junior, Livia dos Santos Rodrigues, Raina Jansen Cutrim Propp Lima, Thaís Natália Araújo Botentuit, Josiel Guedes da Silva e Rosângela Fernandes Lucena Batista.
3. Revisão e/ou aprovação final da versão a ser publicada: Aurean D’eça Junior, Livia dos Santos Rodrigues, Raina Jansen Cutrim Propp Lima, Thaís Natália Araújo Botentuit, Josiel Guedes da Silva e Rosângela Fernandes Lucena Batista.
4. Ser responsável por todos os aspectos do trabalho na garantia da exatidão e integridade de qualquer parte da obra: Aurean D’eça Junior, Livia dos Santos Rodrigues, Raina Jansen Cutrim Propp Lima, Thaís Natália Araújo Botentuit, Josiel Guedes da Silva e Rosângela Fernandes Lucena Batista.
1. Victora CG, Bahl R, Barros AJD, França GVA, Horton S, Krasevec J, et al. Breastfeeding in the 21st century: Epidemiology, mechanisms, and lifelong effect. Lancet. 2016;387(10017):475-90.
2. Brasil. Ministério da Saúde. Evidências científicas dos dez passos para o sucesso no aleitamento materno. Brasília (DF): Opas; 2001.
3. Faleiros FTV, Trezza EMC, Carandina L. Aleitamento materno: fatores de influência na sua decisão e duração. Rev Nutr. 2006;19(5):623-30.
4. Brasil. Ministério da Saúde. Guia alimentar para crianças menores de dois anos. (DF): Ministério da Saúde; 2002.
5. Silva AAM, Batista RFL, Simões VMF, Thomaz EBAF, Ribeiro CCC, Lamy Filho F, et al. Changes in perinatal health in two birth cohorts (1997/1998 and 2010) in São Luís, Maranhão State, Brazil. Cad Saúde Pública. 2015;31(7):1437-50.
6. Brasil. Ministério da Saúde. Saúde da criança: nutrição infantil: aleitamento materno e alimentação complementar. Caderno de Atenção Básica, n. 23. Brasília (DF); 2009.
7. Brasil. Ministério da Saúde. II Pesquisa de prevalência de aleitamento materno nas capitais brasileiras e Distrito Federal. Brasília (DF); 2009.
8. Brasil. Ministério da Saúde. Pesquisa de prevalência de aleitamento materno em municípios brasileiros. Brasília (DF); 2010.
9. Brasil. Ministério da Saúde. Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher – PNDS 2006: dimensões do processo reprodutivo e da saúde da criança. Brasília (DF); 2009.
10. Rollins NC, Bhandari N, Hajeebhoy N, Horton S, Lutter CK, Martines JC, et al. Why invest, and what it will take to improve breastfeeding practices? Lancet. 2016;387(10017):491-504.
11. Venancio SI, Escuder MML, Saldiva SRDM, Giugliani ERJ. A prática do aleitamento materno nas capitais brasileiras e Distrito Federal: situação atual e avanços. J Pediatr. 2010;86(4):317-24.
12. World Health Organization. National implementation of the baby-friendly hospital initiative: summary. Genève; 2017.
13. Venancio SI, Saldiva SRDM, Monteiro CA. Tendência secular da amamentação no Brasil. Rev Saúde Pública. 2013;47(6):1205-8.
14. Oliveira DS, Boccolini CS, Faerstein E, Verly-Jr E. Breastfeeding duration and associated factors between 1960 and 2000. J Pediatr. 2017;93(2):130-5.
15. Damião JJ. Influência da escolaridade e do trabalho maternos no aleitamento materno exclusivo. Rev Bras Epidemiol. 2008;11(3):442-52.
16. Volpato SE, Braun A, Pegorim RM, Ferreira DC, Beduschi CS, Souza KM. Avaliação do conhecimento da mãe em relação ao aleitamento materno durante o período pré-natal em gestantes atendidas no Ambulatório Materno Infantil em Tubarão, (SC). ACM. 2009;38(1):49-55.
17. Buccini GS, Pérez-Escamilla R, Paulino LM, Araújo CL, Venancio SI. Pacifier use and interruption of exclusive breastfeeding: systematic review and meta-analysis. Matern Child Nutr. 2017;13(3):e12384.
18. Brasil. Ministério da Saúde. Dez passos para uma alimentação saudável: guia alimentar para crianças menores de dois anos: um guia para o profissional da saúde na atenção básica. Brasília (DF); 2013.
19. Brasil. Ministério da Saúde. Saúde da criança: aleitamento materno e alimentação complementar. Brasília (DF); 2015.
20. Sociedade Brasileira de Pediatria. Departamento Científico de Aleitamento Materno. Uso de chupeta em crianças amamentadas: prós e contras: guia prático de atualização. Rio de Janeiro (RJ); 2017.
21. Jaafar SH, Ho JJ, Jahanfar S, Angolkar M. Effect of restricted pacifier use in breastfeeding term infants for increasing duration of breastfeeding. Cochrane Database Syst Rev. 2016;30(8):CD007202.
22. Gisfrede TF, Kimura JS, Reyes A, Bassi J, Drugowick R, Matos R, et al. Hábitos bucais deletérios e suas consequências em Odontopediatria. Rev Bras Odontol. 2016;73(2):144-9.
23. Leite-Cavalcanti A, Medeiros-Bezerra PK, Moura C. Aleitamento natural, aleitamento artificial, hábitos de sucção e maloclusões em pré-escolares brasileiros. Rev Salud Pública. 2007;9(2):194-204.
24. Peres KG, Barros AJD, Peres MA, Victora CG. Effects of breastfeeding and sucking habits on malocclusion in a birth cohort study. Rev Saúde Pública. 2007;41(3):343-50.
25. Bühler KEB, Limongi SCO. O uso do copinho como método de alimentação de recém-nascidos pré-termo: revisão de literatura. Rev Soc Bras Fonoaudiol. 2004;9(2):115-21.
26. Gamburgo LJL, Munhoz SRM, Amstalden LG. Alimentação do recém-nascido: aleitamento natural, mamadeira e copinho. Fono Atual. 2002;5(20):39-47.
27. de Freitas BAC, Lima LM, Carlos CFLV, Priore SE, Franceschini SCC. Duração do aleitamento materno em prematuros acompanhados em serviço de referência secundário. Rev Paul Pediatr. 2016 Abr-Jun;34(2):189-96.
Recebido: 20.7.2019. Aprovado: 12.6.2020.
INTENCIONALMENTE NA BAHIA, BRASIL
Saulo Sacramento Meiraa
Alba Benemérita Alves Vilelab
Óscar Manuel Soares Ribeiroc
Ícaro José Santos Ribeirod
Resumo
Caracterizar as internações hospitalares decorrentes de lesões autoprovocadas intencionalmente no estado da Bahia, Brasil, no período de 2008 a 2016. Trata-se de um estudo observacional, descritivo, tendo como unidade de análise as notificações de internações hospitalares por lesões autoprovocadas intencionalmente no Sistema Único de Saúde. Identificaram-se 4.140 internações, sendo 66,5% do sexo masculino e 33,5% do sexo feminino; o maior tempo de permanência foi em idosos, com média de 3,47 dias. Houve predominância de autointoxicações voluntárias por álcool (média de 211,33 internações; DP = 53,33), seguidas das autointoxicações por pesticida/produtos químicos (média de 83,44 internações; DP = 7,35). A taxa de mortalidade foi de 4,05 para ambos os sexos, 4,2 para homens e 3,2 para mulheres. As hospitalizações por lesões autoprovocadas intencionalmente na Bahia nessa série histórica ocorreram em sua maioria em homens, sendo o álcool o mecanismo de lesão predominante; a permanência hospitalar foi maior em idosos, e a taxa de mortalidade geral por suicídio foi considerada baixa para a população estudada.
Palavras-chave: Violência. Suicídio. Estatística. Tentativa de suicídio. Hospitalização.
a Doutor em Ciências da Saúde. Jequié, Bahia, Brasil. E-mail: saulo_meira@hotmail.com
b Doutora em Enfermagem. Professora do curso de Enfermagem e do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e Saúde da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Jequié, Bahia, Brasil. E-mail: alba_vilela@hotmail.com
c Doutor em Ciências Biomédicas. Docente na Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro. Investigador no Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde. Porto, Portugal. E-mail: oribeiro@ua.pt
d Doutor em Ciências da Saúde. Jequié, Bahia, Brasil. E-mail: icaro.ribeiro29@gmail.com
Endereço para correspondência: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e Saúde. Av. José Moreira Sobrinho, s/n, Jequiezinho. Jequié, Bahia, Brasil. CEP: 45200-000. E-mail: saulo_meira@hotmail.com
Abstract
This observational/descriptive study characterized hospital admissions resulting from intentionally self-inflicted injuries in the state of Bahia, Brazil, from 2008 to 2016, whose unit of analysis was notifications of hospital admissions for intentional self-inflicted injuries in the Unified Health System. A total of 4,140 hospitalizations were identified: 66.5% were men, and 33.5% female; the highest length of stay was for older adults, with a mean of 3.47 days. Voluntary autointoxication by alcohol was predominant (mean of 211.33 admissions, SD = 53.33), followed by autointoxication by pesticides and chemical products (mean of 83.44 admissions, SD = 7.35). The death rate was low, consisting of 4.05 for both sexes, 4.2 for men and 3.2 for women. In this historical series the hospitalizations for intentional self-harm in Bahia occurred mostly among men, alcohol being the predominant mechanism of injury; the hospital stay was higher for the elderly and the overall lethality rate due to suicide was considered low for the studied population.
Keywords: Violence. Suicide. Statistics. Suicide attempt. Hospitalization.
EN BAHIA, BRASIL
Caracterizar los ingresos hospitalarios resultantes de lesiones autoinfligidas intencionadamente en el estado de Bahía-Brasil de 2008 a 2016. Este es un estudio observacional, descriptivo, que analizó las notificaciones de ingresos hospitalarios por lesiones autoinfligidas intencionales en el Sistema Único de Salud. Se identificaron 4140 hospitalizaciones, de las cuales el 66,5% eran hombres; y el 33,5%, mujeres; La estancia más larga fue de ancianos, con un promedio de 3,47 días. Hubo un predominio de autointoxicaciones voluntarias por alcohol (promedio de 211,33 hospitalizaciones; DE = 53,33), seguido de autointoxicaciones por pesticidas/químicos (promedio de 83,44 hospitalizaciones; DE = 7,35). La tasa de letalidad fue de 4,05 para ambos sexos, 4,2 para hombres y 3,2 para mujeres. Las hospitalizaciones por autolesión intencional en Bahía en esta serie histórica ocurrieron principalmente en hombres, siendo el alcohol el mecanismo de lesión predominante; la estancia hospitalaria fue más prolongada en los ancianos y la tasa general de mortalidad por suicidio se consideró baja para la población estudiada.
Palabras clave: Violencia. Suicidio. Estadística. Intento de suicidio. Hospitalización.
O comportamento suicida inclui um conjunto de ideias e/ou ações que giram em torno do autoextermínio e pode ser classificado como ideação do suicídio, que se refere a pensamentos de acabar com a própria vida; plano de suicídio, que se refere à formulação de um método específico por meio do qual se pretende morrer; e tentativa de suicídio, que se refere à execução de atos potencialmente prejudiciais em que há pelo menos alguma intenção de morte1.
As tentativas de suicídio são conceituadas como atos intencionais de autoagressão que não apresentam a morte como desfecho2. Os principais fatores associados são tentativas anteriores de suicídio que predispõem à progressiva letalidade do método; possuir transtornos mentais (principalmente depressão); apresentar abuso/dependência de álcool e outras drogas; ausência de apoio social; histórico de suicídio na família; forte intenção suicida; eventos estressantes; e características sociodemográficas desfavoráveis, tais como, pobreza, desemprego e baixo nível educacional3,4
As tentativas de suicídio daqueles hospitalizados são registradas no Brasil pelo Sistema de Informação Hospitalar (SIH), que inclui todas as internações dentro do Sistema Único de Saúde (SUS), a partir de uma extensa rede de hospitais públicos e contratados em todo o país. A média nacional de cobertura do SIH/SUS é de aproximadamente 80% das internações hospitalares, com variações entre as regiões e os estados brasileiros, em função da população usuária de planos de saúde privados5
A Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, em sua 10ª edição (CID-10), considera “lesão autoprovocada intencionalmente” a lesão ou o envenenamento autoinfligidos intencionalmente e as tentativas de suicídio, sendo estas últimas subdivididas em códigos referentes às causas mais específicas contempladas entre X60-X806
Elas incluem, entre outras, autointoxicações intencionais por álcool ou por pesticidas e produtos químicos, e lesões autoprovocadas intencionalmente, por arma de fogo ou por arma branca.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) estimou em 20147 que uma morte decorrente do suicídio ocorra a cada 40 segundos, e que o número de tentativas de suicídio seja ainda maior, afirmando que, para cada suicídio, existam pelo menos 25 tentativas. O aumento das taxas mundiais desse fenômeno e suas repercussões fizeram com que a prevenção da tentativa de suicídio fosse estabelecida pela OMS, em 2006, como objetivo internacional em saúde mental8
Entre 2011 e 2016, o Brasil registrou 48.204 tentativas de suicídio, pouco mais de uma ocorrência por hora. Concretamente, no estado da Bahia, segundo levantamento do Ministério da Saúde9, entre 2011 e 2015, 2.685 pessoas tiraram a própria vida, representando um crescimento de 7% no terceiro maior estado do Brasil.
Os serviços de urgência e emergência são os primeiros locais onde as pessoas que tentaram suicídio recebem cuidados; por isso, estudos que procurem analisar comportamentos de risco para o suicídio como identificação dos meios de perpetração, tempo de hospitalização e distribuição etária são estratégicos para o reconhecimento dos fatores que lhe estão associados. O seu conhecimento permite viabilizar ações sinérgicas por meio de planejamento, gerenciamento, e avaliar os serviços hospitalares, contribuindo para a prevenção de novas tentativas de suicídio.
Ressalte-se, ainda, o fato de que internações decorrentes de lesões autoprovocadas intencionalmente oferecem riscos importantes para a saúde, exigindo atenção de profisisonais especializados, monitoramento contínuo, e demandam, segundo Silveira, Santos e Ferreira10, o uso de tecnologia de alta complexidade e alto custo, gerando ônus ao sistema público de saúde.
O objetivo do presente estudo foi caracterizar as internações hospitalares decorrentes de lesões autoprovocadas intencionalmente no estado da Bahia, Brasil, no período de 2008 a 2016.
Estudo observacional, descritivo, tendo como unidade de análise as notificações de internações hospitalares por lesões autoprovocadas intencionalmente no SUS para o estado da Bahia. A fonte de dados foi o SIH/SUS, com dados disponíveis no portal do Departamento de Informática do SUS (Datasus), correspondente ao período de 2008 a 2016. Cabe ressaltar que o formulário que habilita o internamento hospitalar é a Autorização de Internamento Hospitalar (AIH), com validade de trinta dias, portanto, nos casos em que o paciente permaneça por mais tempo, será gerada uma nova AIH.
Classificaram-se as faixas etárias conforme o recomendado pela OMS, que define como adolescentes a faixa etária compreendida entre 10 e 19 anos; adultos, entre 20 e 59 anos11; e idosos, os com 60 anos de idade ou mais12. Foram excluídas deste estudo as notificações referentes à população infantil, i.e., com idades abaixo dos 10 anos, pois a literatura aponta que suicídios em faixas etárias tão precoces são de difícil caracterização, classificando-se, na maioria das vezes, como acidentais13.
Para este estudo, foram selecionadas internações que possuíam no diagnóstico primário XX, e no diagnóstico secundário, causas referentes aos códigos de X60 a X84 da CID-10: autointoxicação intencional por medicamentos e substâncias biológicas não especificadas (X60-X64); autointoxicação intencional por álcool (X65); autointoxicação intencional por
pesticidas e produtos químicos (X68-X69); lesão autoprovocada intencionalmente por arma de fogo (X72-X74); lesão autoprovocada intencionalmente por arma branca e objetos contundentes (X78-X79); lesão autoprovocada intencionalmente por enforcamento e estrangulamento (X70); lesão autoprovocada intencionalmente por precipitação de lugar elevado (X80); lesão autoprovocada intencionalmente por meio não especificado (X84); e demais categorias (X66, X67, X71, X75-X77, X81-X83).
Calcularam-se a taxa bruta de internamento hospitalar por lesões autoprovocadas, a frequência de internações por tentativa de suicídio, a média de permanência, o tipo de lesão e a taxa de mortalidade hospitalar. Realizou-se a análise dos dados com o auxílio do software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 24.0.
As bases de dados utilizadas são provenientes do Datasus, no qual as identificações dos indivíduos são omitidas, tornando-se desnecessária a tramitação e consequente autorização de um Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos para este estudo.
Entre os anos de 2008 e 2016, ocorreram no estado da Bahia, Brasil, 4.140 internações no SUS (um caso por dia) decorrentes de lesões autoprovocadas intencionalmente por pessoas maiores de dez anos, sendo 2.755 (66,5%) do sexo masculino e 1.385 (33,5%) do sexo feminino. As taxas de internações foram de 4,1 para cada 100 mil habitantes no período considerado, sendo 2,7/100 mil habitantes entre os homens e 1,3/100mil habitantes entre as mulheres.
Observando a distribuição das taxas de hospitalização no decorrer dos anos, constatou-se a predominância do sexo masculino durante toda a série histórica, com pico de internações para ambos os sexos no ano de 2014 (Figura 1).
Na evolução temporal estudada, a autointoxicação voluntária por álcool (X65) foi responsável pela maioria das hospitalizações no estado da Bahia. Essa frequência se manteve elevada entre os homens durante todo o período, apresentando queda nos dois últimos anos, acompanhada do crescimento de lesão autoprovocada por arma branca e objetos contundentes (X78-X79). Já entre as mulheres, ocorreram variações nessa evolução, sendo que as lesões mais frequentes oscilaram especialmente entre a autointoxicação intencional por medicamentos e substâncias biológicas não especificadas (X60 a X64), autointoxicaçao voluntária por álcool (X65) e a autointoxicação intencional por pesticidas e produtos químicos (X68-X69).
Para os dois sexos, no período estudado, as menores taxas de hospitalização se referem a lesões autoprovocadas por enforcamento e estrangulamento (X70), conforme a Figura 2
Figura
Distribuição das internações hospitalares decorrentes de lesões autoprovocadas intencionalmente, segundo sexo e ano, para indivíduos com idades acima de dez anos. Bahia, Brasil – 2008-2016

Figura 2 – Evolução das internações hospitalares decorrentes de lesões autoprovocadas intencionalmente quanto ao método utilizado em aspecto geral e por sexo. Bahia, Brasil – 2008-2016
Autointoxicação intencional por medicamentos e substâncias biológicas não especificadas
Autointoxicação voluntária por álcool
Autointoxicação intencional por pesticidas e produtos químicos
Lesão autoprovocada intencionalmente por enforcamento/estrangulamento/sufocação
Lesão autoprovocada intencionalmente por arma de fogo
Lesão autoprovocada intencionalmente por arma branca e objetos contundentes
Lesão autoprovocada intencionalmente por precipitação de um lugar elevado
Lesão autoprovocada intencionalmente por meios não especificados Demais
Autointoxicação intencional por medicamentos e substâncias biológicas não especificadas
Autointoxicação voluntária por álcool
Autointoxicação intencional por pesticidas e produtos químicos
Lesão autoprovocada intencionalmente por enforcamento/estrangulamento/sufocação
Lesão autoprovocada intencionalmente por arma de fogo
Lesão autoprovocada intencionalmente por arma branca e objetos contundentes
Lesão autoprovocada intencionalmente por precipitação de um lugar elevado
Lesão autoprovocada intencionalmente por meios não especificados
Autointoxicação intencional por medicamentos e substâncias biológicas não especificadas

Autointoxicação voluntária por álcool
Autointoxicação intencional por pesticidas e produtos químicos
Lesão autoprovocada intencionalmente por enforcamento/estrangulamento/sufocação

Lesão autoprovocada intencionalmente por arma de fogo
Lesão autoprovocada intencionalmente por arma branca e objetos contundentes
Lesão autoprovocada intencionalmente por precipitação de um lugar elevado
Lesão autoprovocada intencionalmente por meios não especificados
Demais
Em relação ao tempo de permanência hospitalar (diária) por faixa etária, foram os idosos (60 anos ou mais) que apresentaram maior tempo de internação, seguidos dos adultos (20 a 59 anos) e dos adolescentes (10 a 19 anos). Acerca da estratificação por sexo, apesar de pequena variação, observou-se que os homens adolescentes apresentam maior tempo de permanência, seguidos de mulheres adultas hospitalizados na Bahia (Tabela 1).
Figura
– Evolução das internações hospitalares decorrentes de lesões autoprovocadas intencionalmente quanto ao método utilizado em aspecto geral e por sexo. Bahia, Brasil
Tabela 1 – Média e desvio padrão (dp) da permanência hospitalar em dias por grupo etário segundo sexo por lesões autoprovocadas intencionalmente. Bahia, Brasil – 2008-2016
Média de permanência por
Quanto aos meios empregados, nota-se importante intencionalidade (geral e para o sexo masculino) pela autointoxicação por álcool, seguida pela autointoxicação por pesticidas e produtos químicos, e pela autointoxicação por medicamentos e substâncias biológicas não especificadas. No grupo das mulheres, predominou a autointoxicação intencional por medicamentos e substâncias biológicas não especificadas, seguida pela autointoxicação por álcool (Tabela 2).
Tabela 2 – Média e desvio padrão (dp) masculino, feminino e geral segundo meio de perpetração. Bahia, Brasil – 2008-2016
Identificou-se que a taxa de mortalidade hospitalar (número de internações por lesões autoprovocadas com saída por óbito/total de internações por lesões autoprovocadas × 100) foi de 4,05, sendo em homens 4,2, e em mulheres 3,2. Referente à estratificação por grupos etários, observou-se uma taxa de mortalidade de 12,9 óbitos por mil tentativas entre a população idosa, de 5,88 dos adultos, e de 5,26 dos adolescentes. No que se refere à mortalidade por sexo, o grupo de homens idosos apresentou maior taxa (17,67), seguido do de homens adolescentes (12,94) e do de mulheres adultas (11,48) (Figura 3).
Os resultados permitiram identificar que, na evolução histórica estudada, as lesões autoprovocadas intencionalmente, na Bahia, ocorreram em sua maioria em homens, apresentando pico de crescimento em ambos os sexos no ano de 2014, sendo o álcool o mecanismo de lesão predominante. Nas mulheres, o tipo de lesão mais frequente foram as intoxicações por medicamentos. A permanência hospitalar foi maior em idosos do sexo masculino, e a taxa de mortalidade por suicídio foi considerada baixa para população estudada. Em relação ao predomínio de hospitalizações por lesões autoprovocadas intencionalmente em homens durante todo o período investigado, nota-se um comportamento de gênero divergente de outras regiões brasileiras5,14-16, que estabelecem maiores taxas de tentativas de suicídio entre mulheres e maior proporção de suicídios nos homens em decorrência da utilização de métodos considerados mais letais4,7, como armas de fogo, enforcamento, atirarse de estruturas elevadas e atropelamento. Apesar da íntima relação entre a escolha do método empregado, a gravidade das lesões, bem como a intencionalidade do indivíduo perante a tentativa (se a pessoa realmente queria morrer), a divergência constada para essa variável sinaliza para as variações regionais do comportamento suicida, sinalizando a necessidade de abordagens metodológicas em nível individual capazes de fazer estimativas com mais precisão. Todavia, é importante a observação cautelosa das realidades econômicas e sociais específicas dos territórios que podem levar a comportamentos suicidas heterogêneos. Analisando o pico de crescimento de internações para o ano de 2014 em ambos os sexos e considerando dados da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), iniciada no ano de 2012 por meio do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)17, destaca-se o agravamento das ofertas de emprego no mercado de trabalho, que se disseminou por todo o país nos últimos anos.
Foi possível verificar como as crises política e econômica ocorridas no Brasil desencadearam elevados índices de desemprego em 22 dos 27 estados18. A taxa da média nacional de desocupação foi de 8,3% entre abril e junho, o maior nível da série em comparação entre os segundos trimestres de 2014 e de 2015. A região Nordeste apresentou crescimento do desemprego em sete dos nove estados, e a Bahia apresentou a maior taxa do país até aquele ano (acima dos 10%), sendo os setores de construção civil e serviços os mais afetados17, sugerindo a variável econômica como importante fator de risco para o comportamento suicida.
Segundo Babones19, o rendimento per capita dos países e a sua distribuição determinam o nível de saúde de seus habitantes, na medida em que defende evidências acumuladas sobre as consequências dos aspectos financeiros. Os efeitos negativos das crises
econômicas sobre a saúde mental manifestam-se rapidamente, revelando-se em curto prazo (ao contrário dos efeitos sobre a saúde física, que tendem a ser mais demorados no tempo), podendo ainda ser diretos ou indiretos, e de natureza reversível ou irreversível20. As crises econômicas variam a distribuição de rendimentos da mesma forma como dinamizam as condições de saúde das populações, sendo potencialmente desestabilizantes.
Nesse sentido, o aumento das taxas de desemprego sugere mais vulnerabilidade, nacional e regionalmente, com o aumento do número de suicídios. Estudo21 desenvolvido na Inglaterra, entre 2008 e 2010, revelou evidências quanto à ligação entre o aumento de suicídios e a crise econômica que se iniciou em 2008. Outra pesquisa22, que buscou analisar a influência das condições econômicas, medidas por meio do desemprego, e os efeitos dos gastos em proteção social sobre as taxas de mortalidade em 26 países da União Europeia, entre 1970 e 2008, concluiu que o aumento da taxa de desemprego está associado a um aumento no número de suicídios. Outro estudo16, realizado junto à população espanhola, destacou que, quando não consumadas, as tentativas de suicídio levaram ao desenvolvimento de problemas de saúde mental, em particular a depressão.
A principal explicação para essas evoluções pode estar relacionada com a dificuldade em suportar altos níveis de endividamento pessoal e familiar23. O desemprego, a precariedade no trabalho e a falta de um salário-mínimo influenciam negativamente a saúde. As alterações no mercado de trabalho e na regulação laboral que acompanham as situações de crise econômica aumentam as exigências cognitivas e emocionais relacionadas com o trabalho devido a problemas ligados a estresse, ansiedade e depressão24
No que tange ao consumo de álcool como principal motivo das internações nos homens, alguns estudiosos evidenciam que o consumo de substâncias psicoativas, especialmente o álcool, pode potencializar a probabilidade de tentativas de suicídio e do próprio suicídio, principalmente em indivíduos do sexo masculino25,26, o que demonstra relação direta entre o abuso dessas substâncias e o comportamento suicida. Trata-se de um hábito social estimulado, particularmente, nos meninos desde o final da infância, o que demonstra a influência do grupo social para o consumo. Cardoso27 ressalta uma possível associação entre o consumo excessivo esporádico de álcool (binge drinking) e a existência de comportamentos suicidários. A autora afirma que, de todas as mortes por suicídio, 22% podem ser atribuídas ao álcool, o que significa que um quinto dos suicídios não ocorreria caso o álcool não fosse consumido em quantidades elevadas.
O consumo excessivo de álcool e/ou abuso de outras drogas está intimamente associado à tentativa ou consumação de suicídios. De acordo com um estudo realizado entre os anos de 1980 e 2013, que analisou casos de suicídio por enforcamento e intoxicação exógena,
foi detectada alcoolemia positiva em 30% dos suicídios por enforcamento (média de 1,39 g/L) e em 36% dos suicídios por intoxicação exógena (média de 1,39 g/L)25.
Sabe-se que o abuso de álcool prejudica o juízo crítico e o autocontrole, e que as pessoas tendem a perder a inibição, tornando-se mais impulsivas, podendo externalizar seu sofrimento psíquico por meio da tentativa de suicídio nos casos em que há predisposição para tal, sendo amplamente conhecido que indivíduos com histórico de abuso de substâncias psicoativas estão subnotificados nas estatísticas de mortalidade28,29.
Ribeiro et al.30 acrescentam que a interação social é um elemento determinante para a aquisição de vínculos intersubjetivos, capaz de possibilitar a aproximação de laços afetivos, sentimentos e afinidades. Porém, quando o indivíduo se torna abusador de álcool e outras drogas, a interação social pode apresentar-se prejudicada e ocasionar dificuldades nos relacionamentos interpessoais, afetando as relações sociais afetivas, contribuindo para o isolamento, importante fator de risco para o comportamento suicida.
A maior prevalência de “autointoxicação por medicamentos e substâncias biológicas não especificadas” observada nas mulheres baianas pode ser explicada, segundo Abreu et al.31, porque esses são meios menos invasivos e, portanto, não afetam a estética corporal. Resultado similar foi encontrado em estudo acerca de internações hospitalares no SUS decorrentes de lesões autoprovocadas intencionalmente32. Para Bertolote et al.33, trata-se de métodos suicidas mais socialmente aceitos do que são para os homens, os quais, para consumarem o ato, procuram reafirmar sua virilidade. Outro comportamento que merece ser considerado para compreensão da prevalência desse método de perpetração nas mulheres é a maior frequência desse grupo nos serviços de saúde e uma maior relação médico-paciente, podendo levar ao aumento das prescrições médicas e, portanto, do acesso a medicamentos34,35. Um processo educativo dos consumidores de medicamentos que disponibilize informações suficientes e atualizadas por meio dos profissionais da saúde, prescritores e dispensadores, sobre os fármacos e seus efeitos adversos, também deve cobrir temas como: riscos de automedicação, suspensão e troca da medicação prescrita, e necessidade da receita médica, tomando como base a Política Nacional de Medicamentos. Essa seria uma estratégia importante para reduzir a prevalência do uso abusivo de psicotrópicos36.
Observou-se também para os sexos elevadas taxas de autointoxicação intencional por pesticidas e produtos químicos. Dado corroborado por Monteiro et al.32, que constataram que o consumo de agrotóxicos tem crescido rapidamente nos países em desenvolvimento, principalmente na América Latina, desde o final da década de 1980. Os estados do Nordeste, com destaque para a Bahia, passaram a investir na expansão do agronegócio, especialmente
nos últimos anos, estimulando o aumento da utilização em larga escala de agrotóxicos, tanto por parte de grandes empresas agrícolas como pela agricultura familiar e de subsistência. Todavia, a fragilidade do acompanhamento técnico e da fiscalização diante do armazenamento e da manipulação, além de irregularidades para o adequado cumprimento da legislação responsável pela comercialização e acesso de agrotóxicos37, se configuram como potenciais fatores de risco para autointoxicação de indivíduos com intenções suicidas.
Em relação à permanência hospitalar (por dias) estratificada por faixas etárias, os idosos apresentaram maior tempo de internação, seguidos pelos adultos e pelos adolescentes. Sugere-se que esse dado apresente uma relação direta com a maior probabilidade de comorbidades provenientes do processo de senescência e/ou senilidade que, a depender de seu estágio clínico, demandará mais tempo na unidade hospitalar para estabilização até a alta médica. Acrescenta-se nesse cenário a maior probabilidade de desfechos fatais em decorrência de meios de perpetração mais violentos entre os adultos e adolescentes antes da possibilidade de internação.
De qualquer modo, a teoria durkheimiana38 sinaliza uma relação positiva entre o aumento da idade e as taxas de suicídio, em decorrência de o processo de envelhecimento se caracterizar pela maior frequência de situações altamente desvitalizadas. Nessa fase, a terceira idade, observa-se a prevalência de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), bem como o predomínio de doenças mentais, como a depressão, uma manifestação comum a essa população24 e considerada, por alguns autores4, como o mais relevante fator de risco para tentativas de pôr fim à vida.
A prevalência de depressão entre idosos depende da escala, bem como pontos de corte utilizados e das características sociodemográficas da população estudada. Pesquisas nacionais que utilizaram a Escala de Depressão Geriátrica Reduzida (EDG-15), instrumento preconizado pelo Ministério da Saúde do Brasil, apontam uma prevalência de depressão na população em geral que varia de 3% a 11%, duas vezes maior em mulheres do que em homens, proporção que oscila de 15% a 30% entre idosos, segundo local de moradia, situação socioeconômica e instrumentos utilizados39. A maior parte dos idosos que morreram por suicídio tinha algum transtorno mental, sendo que de 71% a 90% deles sofriam algum grau de depressão40. Em estudo realizado no estado da Bahia, a depressão foi diagnosticada em 23,4% dos idosos, especialmente entre os menores de 75 anos41
Ressalte-se que isolamento social, desemprego, aflições econômicas e perda de entes queridos são mecanismos incapacitantes e que impactam diretamente na qualidade de vida da pessoa idosa24. Alerte-se, ainda, para um cenário nacional com tendência de acréscimo
da expectativa de vida, associado à alteração do perfil epidemiológico da população e à existência de uma relação mais próxima entre tentativas e atos consumados42, sinalizando a urgência para ações preventivas voltadas a esse grupo etário.
Acerca do coeficiente de mortalidade, o número de óbitos/100 mil habitantes, o Brasil acompanha a tendência mundial, tendo subido de 4,9 para 6,2 no período de 2000 a 201243. Quanto à mortalidade hospitalar por lesões autoprovocadas intencionalmente, Monteiro et al.32 identificaram que, dentre todas as regiões brasileiras, o Nordeste manteve valor estável de 4,14 durante os anos de 2006 a 2013, diferentemente das demais, que apresentaram crescimento, com exceção do Centro-Oeste. No presente estudo, o estado da Bahia apresentou coeficiente de mortalidade de 4,02, acompanhando o cenário regional.
É oportuno considerar limitações de uniformidade dos procedimentos de notificação hospitalar quanto às lesões autoprovocadas intencionalmente, bem como a escassez de estudos estaduais e regionais individuados acerca dessas medidas de mortalidade capazes de permitir inferências mais assertivas. Nota-se, todavia, que o uso de substâncias alcoólicas, apesar de indiscutivelmente classificado como importante fator de risco associado ao comportamento suicida25,28,29, pode não se configurar como um mecanismo isolado e imediato para consumação do ato, mas funcionar como um mecanismo de encorajamento para utilização de outros meios de perpetração potencialmente mais fatais, aumentando, desse modo, as chances de reversão de quadros clínicos provenientes de lesões autoprovocadas que poderiam ocasionar mortes.
Ainda sobre a mortalidade hospitalar, percebeu-se o predomínio de indivíduos pertencentes ao grupo etário com idade igual ou superior a 60 anos em ambos os sexos (dados gerais), resultado similar ao encontrado por Minayo et al.44 no Rio de Janeiro e por outras pesquisas12,15,39. Como a população acima de 60 anos é a que mais cresce no Brasil, é fundamental maior atenção às taxas de suicídio das pessoas nessa fase da vida. Infere-se que, à medida que se envelhece, ocorra redução das habilidades físicas e mentais; o encerramento da vida profissional pode potencializar comportamentos agressivos e impulsivos, pois muitos homens idosos associam esse novo momento da vida com a falência do tradicional papel de provedor econômico e de referência familiar, retraindo-se socialmente, o que significa maior risco de isolamento, tristeza, estresse e ideação suicida24,45.
Ações multidimensionais para o momento pós-trabalho devem ser pensadas a partir do reconhecimento de oportunidades para novas realizações, do fortalecimento de amizades, dos relacionamentos e dos diálogos intergeracionais como elementos protetores para a saúde mental, especialmente contra a depressão e o comportamento suicida entre idosos baianos.
Os baixos coeficientes de mortalidade entre as mulheres idosas podem ser atribuídos à menor prevalência de alcoolismo, à religiosidade, às atitudes flexíveis em relação às aptidões sociais e ao desempenho de papéis que, culturalmente, lhes são característicos, além do fato de elas possuírem mais facilidade para o autocuidado e o reconhecimento precoce dos sinais de risco para depressão, uma vez que buscam, com maior frequência, ajuda e apoio social em momentos de crise32.
Dentre as limitações, ressaltam-se o peso do estigma, as conveniências familiares e sociais e as razões políticas que induzem à subnotificação, à má classificação, e prejudicam o entendimento das tentativas de suicídio. Segundo a OMS, existem evidências de que apenas 25% dos que tentam cometer suicídio entram em contato com hospitais, chegando aos serviços apenas os casos graves; mesmo estes costumam ser tratados apenas de forma emergencial quanto às lesões causadas. Essas limitações dificultam comparações mais complexas com outras regiões e/ou países sobre fatores associados, hospitalizações e repercussões acerca do perfil de morbimortalidade frente ao comportamento suicida.
Tentativas de suicídio costumam ser repetidas, estabelecendo-se entre os principais preditores para o suicídio e como um importante problema de saúde pública. Este estudo identificou que as internações hospitalares decorrentes de lesões autoprovocadas intencionalmente no estado da Bahia, Brasil, no período de 2008 a 2016, ocorreram em sua maioria em homens, sendo o álcool o mecanismo de lesão predominante. Nas mulheres, o tipo de lesão mais frequente foi a intoxicação por medicamentos. A permanência hospitalar foi maior em idosos do sexo masculino, e a taxa de mortalidade por suicídio, considerada baixa para a população estudada.
O apoio às pesquisas e ao desenvolvimento de projetos educativos acerca do comportamento suicida permite identificar os fatores associados para conhecimento do público e dos profissionais de saúde, gerando maior aproximação junto aos grupos de alto risco e o desenvolvimento de estratégias de prevenção capazes de ajudar na redução das tentativas de suicídio. Deve-se priorizar a melhoria do sistema de saúde para que sejam garantidos o acesso precoce às avaliações clínicas adequadas, a segurança e a efetividade dos serviços na fase posvenção para prevenção de recidivas. Trata-se de um grande desafio, em particular para países em desenvolvimento, sendo fundamental considerar a diversidade e as especificidades
regionais, que permitam tanto a elaboração de estratégias de prevenção e atenção para esse problema quanto formas otimizadas de atuação em situações urgentes e emergenciais.
1. Concepção do projeto, análise e interpretação dos dados: Saulo Sacramento Meira e Ícaro José Santos Ribeiro.
2. Redação do artigo e revisão crítica relevante do conteúdo intelectual: Saulo Sacramento Meira e Óscar Manuel Soares Ribeiro.
3. Revisão e/ou aprovação final da versão a ser publicada: Alba Benemérita Alves Vilela.
4. Ser responsável por todos os aspectos do trabalho na garantia da exatidão e integridade de qualquer parte da obra: Alba Benemérita Alves Vilela e Óscar Manuel Soares Ribeiro.
1. Guerreiro DF, Sampaio D. Comportamentos autolesivos em adolescentes: uma revisão da literatura com foco na investigação em língua portuguesa. Rev Port Saúde Pública. 2013;31(2):204-13.
2. Souza VS, Alves MS, Silva LA, Lino DCSF, Nery AA, Casotti CA. Tentativas de suicídio e mortalidade por suicídio em um município no interior da Bahia. J Bras Psiquiatr. 2011;60(4):294-300.
3. Overholser JC, Braden A, Dieter L. Understanding suicide risk: identification of high risk groups during high risk times. J Clin Psychol. 2012;68(3):349-61.
4. Chan LF, Shamsul AS, Maniam T. Are predictors of future suicide attempts and the transition from suicidal ideation to suicide attempts shared or distinct: a 12 month prospective study among patients with depressive disorders. Psychiatry Res. 2014;220(3):867-73.
5. Martins DF Jr, Felzemburgh RM, Dias AB, Caribé AC, Bezerra-Filho S, MirandaScippa Â. Suicide attempts in Brazil, 1998-2014: an ecological study. BMC Public Health. 2016;16:990.
6. Organização Mundial da Saúde. CID-10 Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. 10a ed. rev. São Paulo (SP): Edusp; 2017.
7. Organização Mundial da Saúde. WHO Document Production Services. Mental Health Action Plan 2013-2020. Genève; 2013.
8. Organização Mundial da Saúde. Departamento de Saúde Mental e de Abuso de Substâncias. Prevenção do suicídio: um recurso para conselheiros. Série: Prevenção do suicídio: uma série de recursos. Genève; 2006.
9. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Suicídio: tentativas e óbitos por intoxicação exógena no Brasil, 2007 a 2016. Bol Epidemiol. 2019;50(15):1-12.
10. Silveira RE, Santos AS, Ferreira LA. Impactos da morbimortalidade e gastos com o suicídio no Brasil de 1998 a 2007. Rev Pesqui. 2012;4(4):3033-42.
11. Organização Mundial da Saúde. Definition of key terms. Genève; 2013.
12. Organização Mundial da Saúde, Organização Pan-Americana da Saúde. Envelhecimento ativo: uma política de saúde. Brasília (DF): Opas; 2005.
13. Organização Mundial da Saúde. Departamento de Saúde Mental. Prevenção do suicídio: um manual para profissionais da saúde em atenção primária. Genève; 2000.
14. Lovisi GM, Santos SA, Legay L, Abelha L, Valencia E. Epidemiological analysis of suicide in Brazil from 1980 to 2006. Rev Bras Psiquiatr. 2009;31(supl. 2):S86-93.
15. Organização Mundial da Saúde. Preventing suicide. CMAJ. 2014;143(7):609-10.
16. Gili M, Roca M, Basu S, Mckee M, Stuckler D. The mental health risks of economic crisis in Spain: evidence from primary care centers, 2006 and 2010. Eur J Public Health. 2013;23(1):103-8.
17. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. PNAD Contínua: desocupação vai a 8,9% no terceiro trimestre de 2015. Agência IBGE Notícias [Internet]. Rio de Janeiro (RJ); 2015 nov 24 [citado em 2020 agoi 31]. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013agencia-de-noticias/releases/15165-pnad-continua-desocupacao-vai-a-8-9no-terceiro-trimestre-de-2018
18. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: mercado de trabalho brasileiro: 3º trimestre de 2015. Rio de Janeiro (RJ); 2015 nov 24.
19. Babones SJ. Income inequality and population health: correlation and causality. Soc Sci Med. 2008;66(7):1614-26.
20. Suhrcke M, Stuckler D. Will the recession be bad for our health? It depends. Soc Sci Med. 2012;74(5):647-53.
21. Barr B, Taylor-Robinson D, Scott-Samuel A, McKee M, Stuckler D. Suicides associated with the 2008-10 economic recession in England: time trend analysis. BMJ. 2012;345:5142-9.
22. Stuckler D, Basu S, Suhrcke M, Coutts A, McKee M. The public health effect of economic crises and alternative policy responses in Europe: an empirical analysis. Lancet. 2009;374:315-23.
23. Kentikelenis A, Karanikolos M, Papanikolas I, Basu S, McKee M, Stuckler D. Health effects of financial crisis: omens of a Greek tragedy. Lancet. 2011;378:1457-8.
24. Organização Mundial da Saúde. Regional Office for Europe. Impact of economic crises on mental health. Copenhagen; 2011.
25. Gonçalves EMG, Ponce JC, Leyton V. Uso de álcool e suicídio. Saúde Ética Justiça. 2015:20(1):9-14.
26. Lima DD, Azevedo RCS, Gaspar KC, Silva VF, Mauro MLF, Botega NJ. Tentativa de suicídio entre pacientes com uso nocivo de bebidas alcoólicas internados em hospital geral. J Bras Psiquiatr. 2010:59(3):167-72.
27. Cardoso GT. Comportamentos autolesivos e ideação suicida nos jovens [dissertação]. Coimbra: Universidade de Coimbra; 2016.
28. Klimkiewicz A, Ilgen MA, Bohnert AS, Jakubczyk A, Wojnar M, Brower KJ. Suicide attempts during heavy drinking episodes among individuals entering alcohol treatment in Warsaw, Poland. Alcohol Alcohol. 2012;47(5):571-6.
29. Fudalej S, Ilgen M, Fudalej M, Wojnar M, Matsumoto H, Barry KL, et al. Clinical and genetic risk factors for suicide under the influence of alcohol in a Polish sample. Alcohol Alcohol. 2009;44(5):437-42.
30. Ribeiro DB, Terra MG, Soccol KLS, Schneider JF, Camillo LA, Plein FAS. Motivos da tentativa de suicídio expressos por homens usuários de álcool e outras drogas. Rev Gaúcha Enferm. 2016;37(1):1-7.
31. Abreu KP, Lima MAD, Kohlrausch E, Soares JF. Comportamento suicida: fatores de risco e intervenções preventivas. Rev Eletrônica Enferm. 2010;12(1):195-200.
32. Monteiro RA, Bahia CA, Paiva EA, Sá NNB, Minayo MCS. Hospitalizações relacionadas a lesões autoprovocadas intencionalmente, Brasil, 2002 a 2013. Ciênc Saúde Colet. 2015;20(3):689-99.
33. Bertolote JM, Fleischmann A, Butchart A, Besbelli N. Suicide, suicide attempts and pesticides: a major hidden public health problem. Bull World Health Organ. 2006;84(4):260.
34. Padilha PDM, Toledo CEM, Rosada CTM. Análise da dispensação de medicamentos psicotrópicos pela rede pública municipal de saúde de Campo Mourão/PR. Rev Uningá Rev. 2014;20(2):6-14.
35. Portugal. Ministério da Saúde. Direção-Geral da Saúde. Plano Nacional de Prevenção do Suicídio 2013/2017. Lisboa; 2013.
36. Lopes LMB, Grigoleto ARL. Uso consciente de psicotrópicos: responsabilidade dos profissionais da saúde. Braz J Health. 2011;2(1):1-14.
37. Castro MGGM, Ferreira AP, Mattos IE. Uso de agrotóxicos em assentamentos de reforma agrária no município de Russas (Ceará, Brasil): um estudo de caso. Epidemiol Serv Saúde. 2011;20(2):245-54.
38. Durkheim E. O suicídio: estudo de sociologia. São Paulo (SP): Martins Fontes; 2000.
39. Maciel ACC, Guerra RO. Prevalência e fatores associados à sintomatologia depressiva em idosos residentes no Nordeste do Brasil. J Bras Psiquiatr. 2006;55(1):26-33.
40. Mitty E, Flores S. Suicide in late life. Geriatr Nurs. 2008;29(3):160-5.
41. Duarte MB, Rego MAV. Comorbidade entre depressão e doenças clínicas em um ambulatório de geriatria. Cad Saúde Pública. 2007;23(3):691-700.
42. Minayo MCS, Cavalcante FG. Suicídio entre pessoas idosas: revisão da literatura. Rev Saúde Pública. 2010;44(4):750-7.
43. Machado DB, Santos DN. Suicídio no Brasil, de 2000 a 2012. J Bras Psiquiatr. 2015;64(1):45-54.
44. Minayo MCS, Pinto LW, Assis SG, Cavalcante FG, Mangas RMN. Tendência da mortalidade por suicídio na população brasileira e idosa, 1980-2006. Rev Saúde Pública. 2012;46(2):300-9.
45. Meneghel SN, Victora CG, Faria NMX, Carvalho LA, Falk JW. Características epidemiológicas do suicídio no Rio Grande do Sul. Rev Saúde Pública. 2004;38(6):804-10.
Recebido: 6.5.2019. Aprovado: 15.6.2020.
Liane Oliveira Souza Gomesa
Flavia Pedro dos Anjos Santosb
Vanda Palmarella Rodriguesc
Maristela Santos Nascimentod
Eduardo Nagib Boerye
Resumo
Este estudo objetivou analisar o processo de trabalho dos enfermeiros nas equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) em um município do interior do estado da Bahia. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva, realizada com 20 enfermeiros das Equipes de Saúde da Família do município baiano. Os dados foram coletados por meio de entrevista semiestruturada e analisados com base na técnica de análise de conteúdo. Os resultados evidenciaram que o processo de trabalho dos enfermeiros contempla a gerência e a assistência. Na prática gerencial, os enfermeiros compartilham responsabilidades com a equipe de saúde para a tomada de decisões; planejam as ações e avaliam os sistemas de informação. Já na prática assistencial, realizam assistência aos grupos populacionais, desenvolvendo visitas domiciliares e atividades educativas. Assim, evidenciamos diversas atribuições do enfermeiro na sua prática cotidiana na ESF, tornando fundamental a esse profissional melhorar o emprego das tecnologias em saúde para o desenvolvimento do processo de trabalho nas ações em saúde aos usuários e às famílias.
Palavras-chave: Enfermagem. Estratégia Saúde da Família. Serviços de saúde. Trabalho.
a Enfermeira. Doutoranda em Enfermagem e Saúde pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Jequié, Bahia, Brasil. E-mail: lianegomesmm@hotmail.com
b Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Professora adjunta da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Jequié. Bahia. Brasil. E-mail: fpasantos@uesb.edu.br
c Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Professora titular da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Jequié, Bahia, Brasil. E-mail: vprodrigues@uesb.edu.br
d Enfermeira. Mestre em Enfermagem. Docente da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Jequié. Bahia. Brasil.
E-mail: maristellamenezes812@gmail.com
e Enfermeiro. Doutor em Enfermagem. Docente da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Jequié. Bahia. Brasil.
E-mail: eduardoboery@gmail.com.br
Endereço para correspondência: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Rua Apolinário Peleteiro, n. 351, Campo do América. Jequié, Bahia, Brasil. CEP: 45203-052. E-mail: lianegomesmm@hotmail.com
Abstract
This study analyzed the work processes of nurses in the Family Health Strategy teams. The methodology adopted was qualitative and descriptive, and included 20 nurses of family health teams from the city of Jequié in Bahia. Data were collected through semi-structured interviews and analyzed based on the content analysis technique. The results showed that the nurse work process involves management and care. In managerial practice, nurses share responsibilities with the health team for making decisions, plan actions, and evaluate information systems. We noted multiple assignments of nurses in their daily practice in the FHS, making it essential for nurses to improve the use of health technologies for the development of the work process in health actions for users and families.
Keywords: Nursing. Family Health Strategy. Health service. Work.
Este estudio tuvo como objetivo analizar el proceso de trabajo de los enfermeros en la Estrategia de Salud de la Familia en un municipio del interior de Bahia. Es una investigación cualitativa, descriptiva, realizada con 20 enfermeros de los equipos de Salud de la Familia del municipio. Los datos se recolectaron por medio de entrevista semiestructurada y se analizaron mediante la técnica de análisis de contenido. Los resultados ponen de manifiesto que el proceso de trabajo de los enfermeros incluye la planificación y la asistencia. En la práctica de planificación, los enfermeros comparten responsabilidades con el equipo de salud en la toma de decisiones; planifican las acciones y evalúan los sistemas de información. En la práctica asistencial, brindan asistencia a la población, desarrollando visitas domiciliarias y actividades educativas. Se destacan las diversas atribuciones del enfermero en su práctica cotidiana en la ESF, lo cual es esencial que el profesional mejore su manejo con las tecnologías de salud para desarrollar el proceso de trabajo en las acciones de salud a los usuarios y a las familias.
Palabras clave: Enfermería. Estrategia de Salud de la Familia. Servicios de salud. Trabajo.
A Estratégia Saúde da Família (ESF) ao ser implementada nos municípios com o propósito de transformação do modelo de atenção, buscou modificar a lógica da organização do processo de trabalho dessas equipes, na perspectiva da mudança do objeto de atenção.
Nesse sentido, a ESF propõe uma prática assistencial com novas bases estruturais e busca avançar para a construção de uma assistência humanizada que responda às diversas necessidades de saúde da população por meio da produção do cuidado com ênfase na família, uma vez que a intervenção no contexto familiar se configura em uma estratégia para se reverter o modelo fragmentado, direcionado à cura de doenças e dissociado dos aspectos socioculturais inerentes ao processo saúde-doença1
Por sua vez, o processo de trabalho em saúde permeia relações sociais historicamente determinadas, que se caracterizam em práticas de saúde exercidas por profissionais em uma relação dialética entre as necessidades de saúde da população e o modo de organização dos seus serviços. Nessa perspectiva, as contribuições teóricas sobre a organização tecnológica do trabalho em saúde trazem a possibilidade do “autogoverno” dos profissionais de saúde para imprimir mudanças a partir das intersubjetividades no processo de trabalho2.
Nesse contexto, a tecnologia em saúde pode ser classificada em “leve”, “leve-dura” e “dura”. A tecnologia “leve” produz-se no trabalho vivo, em ato, em um processo de relações, isto é, no encontro entre o trabalhador de saúde e o usuário, com momentos de falas e escutas que criam cumplicidades, relações de vínculo, aceitação e responsabilidade em torno do problema que vai ser enfrentado. Já a tecnologia “leve-dura” refere-se aos conhecimentos bem estruturados dos profissionais, como a clínica, a epidemiologia e os saberes que compõem a equipe, estando inscrita na maneira de organizar sua atuação. Por sua vez, a tecnologia “dura” refere-se ao instrumental complexo em seu conjunto, englobando todos os equipamentos para tratamentos, normas e estruturas organizacionais3
Assim, o enfermeiro, no processo de trabalho, utiliza as tecnologias leves e leveduras, quando desenvolve as práticas gerenciais, assistenciais, educativas e políticas. Durante a realização das ações gerenciais, as tecnologias leve-duras são evidenciadas nas normatizações burocráticas e técnicas para o desenvolvimento do trabalho e as tecnologias leves, nas relações de trabalho estabelecidas com a equipe de saúde e os usuários3.
O enfermeiro inserido na equipe da ESF desenvolve seu processo de trabalho em dois campos essenciais: na unidade de saúde, junto da equipe de saúde, atuando na assistência
aos diversos grupos populacionais prioritários, na gerência e nas atividades educativas; e na comunidade, com a finalidade de apoiar e supervisionar o trabalho do agente comunitário de saúde (ACS), assistindo as pessoas que necessitam da assistência de enfermagem no domicílio e realizando reuniões nas comunidades e nos Conselhos Locais de Saúde (CLS), sendo a visita domiciliar uma ferramenta importante para o estabelecimento de vínculo4
Com o propósito de contribuir com a produção de novos conhecimentos acerca do processo de trabalho desenvolvido pelo profissional enfermeiro nas equipes da ESF, traçou-se a seguinte questão que norteou este estudo: Como se processa o trabalho do profissional enfermeiro nas equipes da ESF do município de Jequié (BA)?
Para tanto, esta pesquisa justifica-se pelo propósito de promover reflexões dos profissionais da ESF e dos gestores sobre o processo de trabalho do enfermeiro, o que poderá proporcionar uma reestruturação das práticas de saúde no campo de atuação dos profissionais.
Nesse contexto, este estudo objetivou analisar o processo de trabalho dos enfermeiros nas equipes da ESF em um município do interior do estado da Bahia.
Trata-se de uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa. Os participantes foram 20 enfermeiros que atuavam nas equipes da ESF em um município do interior da Bahia. Os seguintes critérios de inclusão foram utilizados, a saber: equipes completas, conforme preconiza o Ministério da Saúde, e equipes da zona urbana.
Os dados foram coletados por meio de entrevista semiestruturada, com duração média de 40 minutos, seguindo um roteiro com questões norteadoras.
Os dados foram analisados por meio da técnica de análise de conteúdo, com uso da modalidade temática. Nesse sentido, inicialmente foi realizada a transcrição do conjunto das entrevistas gravadas, seguida da leitura flutuante, identificando os núcleos dos sentidos contidos nas falas dos entrevistados. A organização dos conteúdos das falas buscou uma articulação com o objeto do estudo e o referencial teórico, em que emergiram categorias e subcategorias5 Posteriormente, procedeu-se à interpretação do material empírico coletado.
Os relatos dos entrevistados foram identificados no texto por um número, conforme a ordem crescente das entrevistas realizadas, ou seja, entrevista nº 1 leia-se (E1), e assim sucessivamente.
Atendendo às questões éticas, a pesquisa atendeu as diretrizes contidas na Resolução n. 196, de 10 de outubro de 1996, do Conselho Nacional de Saúde (CNS), vigente no período de aprovação do projeto6.
Depois de esclarecimentos dos objetivos da pesquisa e consentimento dos entrevistados, todos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, no intuito de garantir o sigilo das informações e a utilização dos dados produzidos para fins científicos, o que se deu no período de fevereiro a abril de 2010, depois do parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb), por meio do protocolo n. 225/2009.
Depois do tratamento dos dados, emergiram categorias empíricas e suas respectivas subcategorias.
A produção do cuidado na equipe da ESF requer uma análise crítica sobre as práticas de saúde, sobre a forma como estão estruturadas, as finalidades a que se prestam, a dimensão do alcance de suas ações, para quem estão voltadas e a concepção de “saúde-doença” dos agentes no processo de trabalho ao lidar com o objeto de sua intervenção7.
Os enfermeiros têm sua forma singular de fazer o seu trabalho na equipe da ESF, e sob o olhar da micropolítica do trabalho em saúde, numa mesma equipe de saúde operam vários modelos de assistência, pois este se vincula aos modos como o trabalhador opera seu processo de trabalho8.
Ademais, a micropolítica do trabalho em saúde propicia o incessante movimento de produção de subjetividades e relações de poder, tanto na gestão como na produção do cuidado e na formação em saúde, suscitando tensões ocasionadas pelos diversos modos com que cada profissional de saúde expressa suas práticas, podendo impulsionar novos caminhos para se produzir o cuidado9
Subcategoria 1.1: Processo de trabalho do enfermeiro na equipe da ESF Nesta subcategoria os depoimentos evidenciam que o processo de trabalho do enfermeiro segue a semana típica como delineamento da produção do cuidado:
“Realizo os trabalhos conforme a semana típica: HiperDia [plano de reorganização da atenção à hipertensão arterial e ao Diabetes Mellitus], crescimento e desenvolvimento, pré-natal, planejamento familiar, visita domiciliar e atividades educativas realizadas na comunidade.” (E2).
“As atividades são feitas de acordo a semana típica, em cada turno e período agente atende a um programa: pré-natal, planejamento familiar, HiperDia, crescimento e desenvolvimento, visita domiciliar e reunião da equipe.” (E3).
“Trabalho com a semana típica, mas divido em uma demanda espontânea e uma demanda programada. A demanda espontânea corresponde a 50% e a demanda programada 50%.” (E18).
Na prática cotidiana dos profissionais das equipes da ESF, neste estudo, a semana típica corresponde à organização por turno dos atendimentos e das ações desenvolvidas pelos profissionais aos diversos grupos populacionais da área de abrangência das Unidades de Saúde da Família (USF).
Ressalta-se nos relatos dos entrevistados que a produção de saúde por vezes é “engessada” em uma semana típica, e a produção do cuidado aos usuários, como uma forma de organização dos serviços, é centrada nos próprios trabalhadores, no seu suposto conforto, na medida em que a lógica das necessidades de saúde dos usuários não se enquadra em nenhuma semana típica, considerando a sua dinamicidade8
Nas falas de todos os entrevistados pode-se perceber que a prática dos enfermeiros parte de um cardápio de atendimento aos usuários proposto pela política do Ministério da Saúde (MS), programa de pré-natal, preventivo e HiperDia, orientado pelas necessidades de saúde mais corriqueiras nas USF10.
Ainda em relação à semana típica na ESF, algumas equipes do estudo não utilizam essa organização para atendimento à demanda organizada:
“A semana típica não é típica como tinha esse hábito antes. Tanto que não existe nada exposto na unidade de saúde, para não inibir o paciente ou a comunidade de buscar a unidade quando ele precisa. Estruturado no papel a minha semana funciona de segunda-feira pela manhã o atendimento de crescimento e desenvolvimento, segunda à tarde HiperDia, sendo que o paciente precisando é acolhido, ele é ouvido, ele é direcionado. Se o atendimento tiver de ser com enfermeira, ele vem direto com a enfermeira, se é para o médico, ele vai para o médico. Se for outro encaminhamento, farmácia, vacina, curativo, aí ele é encaminhado para o setor que ele precisa.” (E17).
Nesse depoimento, foi identificado que não existe a semana típica exposta na unidade, ainda que os atendimentos aos grupos populacionais específicos sejam realizados por meio de uma programação e, quando o indivíduo chega à unidade, é acolhido, sendo realizada a escuta e garantido o acesso à equipe de saúde.
Tal afirmativa parece estar relacionada com a proposta das linhas de cuidado, que preveem a programação da agenda por meio das ações programáticas em saúde e o acolhimento para a organização das práticas e dos serviços de saúde na perspectiva de potencializar a integralidade do cuidado. Ou seja, as equipes das USF deverão programar a agenda para determinados grupos expostos ao risco e, ao mesmo tempo, acolher os usuários nos momentos de necessidades agudas11.
No estado da Bahia, a proposta das linhas de cuidado se constitui em um subprojeto vinculado ao projeto “Saúde da família pra valer” da Diretoria de Atenção Básica, junto do Conselho de Secretários Municipais de Saúde (Cosems) e o MS, com o objetivo de construir estratégia estruturante da organização do processo de trabalho que não seja direcionada apenas para os problemas definidos como prioritários, e sim com ênfase na atenção integral à saúde11
Acredita-se que as mudanças na organização do processo de trabalho nas equipes da ESF relatada pelo entrevistado 17 estejam relacionadas ao processo de implantação das linhas de cuidado do município em estudo, o que foi iniciado no ano de 2009, por meio do curso de pós-graduação lato sensu, e de maneira a instrumentalizar alguns profissionais das equipes da ESF para atuarem, no final do curso, como multiplicadores, considerando os demais profissionais, da nova lógica do processo de trabalho, em conformidade com a proposta das linhas de cuidado12
Destaca-se que independente de ser estruturado pelas ações programáticas ou pelas linhas de cuidado, os profissionais de saúde precisam reconhecer que suas práticas podem impulsionar novas referências a partir de sua capacidade cuidadora, o que permitirá inovações na produção do cuidado.
Entende-se que a priorização apenas da demanda organizada e/ou espontânea para atendimento aos usuários nas áreas adscritas precisa ser revista pelas equipes da ESF, considerando a necessidade de atendimento a todos os indivíduos que procuram essas equipes de saúde, garantindo acessibilidade universal. Assim, o serviço de saúde assume sua função precípua: a de acolher, escutar e dar uma resposta positiva e capaz de resolver os problemas de saúde da população13
Neste estudo, ainda em relação à produção do cuidado na ESF, o enfermeiro realiza a consulta de enfermagem com os usuários nos programas de pré-natal, planejamento familiar, preventivo, crescimento e desenvolvimento, além daqueles usuários com diagnóstico de hipertensão e diabetes, evidenciado nos relatos a seguir:
“No crescimento e desenvolvimento acompanho as crianças de 0 a 7 anos […]. Eu trabalho na prevenção. De 0 a 6 meses a consulta é mensal. Na consulta do CD [crescimento e desenvolvimento] eu peso, verifico a altura e todos os perímetros cefálico, abdominal e torácico, observo os dentes […]. Acompanho também o estado nutricional, também oriento sobre aleitamento materno exclusivo. Faço palestras com as gestantes sobre aleitamento materno […]. Oriento também as mães sobre a vacinação das crianças e os hábitos de higiene. No serviço de pré-natal […], no atendimento eu faço a medida da altura uterina, ausculto os batimentos cardiofetais.” (E8).
“Desenvolvo os programas de acordo com os protocolos do Ministério da Saúde […]. Prescrevo ácido fólico e sulfato ferroso no programa de pré-natal. No programa de HiperDia o usuário portador de hipertensão arterial passa mensalmente com a enfermeira, se tiver alterações, eu encaminho para a médica da equipe […]. No preventivo, trato conforme a abordagem sindrômica.” (E16).
Ressalta-se, nesta pesquisa, que a prática profissional segue a lógica das ações programáticas em saúde, que foram instituídas nos serviços de saúde com o objetivo de garantir o crescimento da cobertura de atendimentos para os grupos de risco, na perspectiva da promoção, prevenção e recuperação da saúde, tendo como principais características a organização do processo de trabalho a partir de programas definidos por ciclos de vida ou por doenças especiais, além de padronização de fluxogramas de atividades que podem ser eventuais, de acordo com a demanda espontânea, ou atividades de rotina, para demanda organizada, entre outros14,15
Percebe-se, pelos depoimentos dos entrevistados, que durante a consulta de enfermagem esses profissionais atuam na atenção à saúde da mulher, da criança, do adulto e do idoso, enquanto as ações de prevenção das doenças são realizadas por meio de prescrições baseadas em protocolos específicos.
Também evidencia-se que a prática educativa no processo de cuidar do enfermeiro é realizada na comunidade com os grupos populacionais específicos antes do atendimento nas unidades, referido pelos entrevistados como “sala de espera”, conforme explicitado nas falas a seguir:
“Na prática educativa faço sala de espera, atividades na comunidade.” (E2).
“Na prática educativa eu faço a sala de espera, com grupos de gestantes, hipertensos e adolescentes.” (E16).
A atividade educativa é uma atribuição do enfermeiro na equipe da ESF que dá ênfase à promoção e prevenção à saúde e deve estar voltada às mudanças de práticas dos sujeitos em nível individual e coletivo. Essa prática está baseada nas tecnologias leve e leve-dura, pois o enfermeiro utiliza a fala e os saberes para sua execução.
A gerência na ESF é vista como fundamental no funcionamento da USF, devendo agregar o planejamento, a organização dos serviços e a avaliação dos indicadores de saúde e das ações realizadas, o que reafirma o caráter administrativo do papel gerencial16.
Subcategoria 2.1: O enfermeiro na prática gerencial
No modelo assistencial proposto pela ESF, a gerência dos enfermeiros nesses serviços de saúde deve ser tomada como um instrumento que possibilita o compartilhar de poder no interior das USF e, nesse sentido, poderá se instituir em uma ferramenta importante na efetivação de políticas públicas17
“[…] têm que ter alguém para estar norteando as coisas, mas eu falo que não administro aqui sozinha, as coisas são decididas em equipe. A não ser em determinadas situações que acontece que tenho que decidir na hora. Fora disso, todos os problemas são levados para as reuniões da equipe, entre si, agente discute as soluções e o que a maioria decide é o que prevalece. Funciona assim, pois se der errado, é da responsabilidade de todos.” (E15).
O entrevistado 15 relata que, como coordenador da USF, busca tomar as decisões em equipe – com exceção de determinadas situações que requerem decisão imediata. Observa-se nas falas a seguir as atribuições do gerente na ESF:
“O SSA2 (Situação de Saúde e Acompanhamentos das Famílias na Área) e o PMA2 (Produção e Marcadores para Avaliação) é feito mensalmente com os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e pela enfermeira.” (E3).
“Como gerente da unidade, realizo todas as atividades gerenciais, solicitação de material, medicação, comunicação interna, manutenção dos equipamentos, controle de férias e folgas […] além de acompanhamento dos Agentes Comunitários de Saúde.” (E5).
“Realizo a avaliação dos procedimentos e atividades desenvolvidas pela equipe de saúde da unidade da família.” (E12).
“Identificação da área de abrangência, mapeamento da área.” (E13).
Os achados do estudo mostram que o processo de trabalho do enfermeiro na gerência da USF contempla a solicitação de materiais e medicamentos como também a elaboração de comunicação interna para a Secretaria Municipal de Saúde, a avaliação dos procedimentos realizados pela equipe e o mapeamento com identificação das áreas de abrangência, além da supervisão dos ACS e auxiliares de enfermagem na realização de procedimentos.
Em geral, no processo de trabalho gerencial os enfermeiros demonstram grande preocupação com o controle de material, além da preocupação com o controle dos equipamentos18. Por conseguinte, essas atividades, por vezes, sobrecarregam esses profissionais – o que pode gerar prejuízos para a supervisão, para o acompanhamento e para a avaliação mais criteriosa das atividades realizadas nas unidades.
No que se refere à prática política dos enfermeiros, constata-se que em apenas duas equipes da ESF existe o Conselho Local de Saúde (CLS) implantado, conforme as falas:
“Na prática política existe o Conselho Local de Saúde, mas não está funcionando 100%, porque está mudando alguns membros das diretorias. No final do ano passado tive problemas com os conselheiros, por causa de problemas de horários,
pois alguns estudam à noite e o conselho funciona à noite, toda segunda terça-feira do mês.” (E15).
“Na prática política existe o Conselho Local de Saúde.” (E17).
Ressalta-se, no depoimento do entrevistado 15, que embora o CLS exista, funciona com certa dificuldade, em decorrência da incompatibilidade de horário entre suas reuniões e a disponibilidade dos membros conselheiros.
Diante desses relatos, percebe-se que são necessários esforços para possibilitar um sistema de gestão com corresponsabilidade para o fortalecimento do controle social, envolvendo gestores, profissionais de saúde e usuários, no qual todos devem assumir uma postura de compromisso com os serviços públicos, no sentido de dar maior visibilidade à gestão dos serviços de saúde.
Subcategoria
Em geral, a coordenação da USF, quando realizada pelo enfermeiro, tem adotado determinados mecanismos que propiciam a execução de práticas gerenciais, a exemplo do planejamento em saúde, visto como um instrumento político-administrativo inerente ao funcionamento dos serviços de saúde – principalmente na ESF17
Os trechos a seguir relatam como os entrevistados realizam o planejamento nas equipes da ESF:
“Esse planejamento agente faz anualmente, onde nós iniciamos com uma oficina de planejamento para 2010. E temos aquele planejamento que é realizado nas reuniões semanais, para a semana seguinte as atividades do mês. O planejamento do ano é o Plano e Programação Local de Saúde, que começamos a fazer, pois tivemos a 1ª oficina neste ano na secretaria.” (E5).
“O planejamento é realizado de acordo às necessidades da equipe, geralmente nas reuniões são identificado os problemas existentes na área e na unidade de saúde.” (E7).
Evidencia-se na fala do entrevistado 5 que o planejamento é realizado anual e semanalmente, nas reuniões da equipe. Por outro lado, o entrevistado 7 refere que o
planejamento é realizado de acordo com as necessidades, nas reuniões dessa equipe de saúde. De modo geral, cabe aos profissionais das equipes da ESF, a partir dos problemas identificados nas reuniões, viabilizar sua resolução dentro das possibilidades existentes para os enfermeiros gerentes em exercício na USF, com o propósito de prestar a assistência à saúde com qualidade19 Dessa maneira, terão a possibilidade de planejar ações mais consubstanciadas e que tenham efeito sobre os indicadores sociais, sanitários, demográficos e de morbimortalidade, entre outros, inerentes às famílias cadastradas na USF, a partir da análise crítica das informações geradas pelos Sistemas de Informação em Saúde (SIS), de maneira a aproximar-se da realidade local e auxiliar na tomada de decisão nas ações gerenciais.
Subcategoria 2.3: Sistema de Informação em Saúde O Sistema de Informação da Atenção Básica (Siab) contribui para o planejamento das ações gerenciais do enfermeiro que atua na equipe da ESF. Assim, observa-se no relato do entrevistado 6 a importância do sistema:
“O Siab produz relatórios que auxiliam as equipes de saúde e os gestores municipais a acompanhar o trabalho que vem sendo realizado na Unidade de Saúde da Família, permitindo conhecer a realidade sociossanitária da população acompanhada e também podemos readequar os serviços de saúde oferecidos.” (E6).
“É realizado uma avaliação por mim dos dados gerados no sistema através de um relatório solicitado de três em três meses pelo Núcleo de Informação em Saúde (NIS).” (E12).
Outrossim, pode-se considerar o Siab como um instrumento de trabalho fundamental para nortear o processo de trabalho dos profissionais das equipes da ESF e, consequentemente, dos gestores, uma vez que as informações geradas por esse sistema possibilitam a análise dos dados e o planejamento das ações de saúde.
CATEGORIA 3: DIFICULDADES VIVENCIADAS PELO ENFERMEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE TRABALHO
Nos relatos dos entrevistados constata-se algumas dificuldades no processo de trabalho vivenciadas pelos enfermeiros na ESF, conforme os trechos a seguir:
“Falta de estrutura física adequada, de material para melhor atendimento à comunidade, de equipamentos permanentes e de algumas medicações na unidade, para os programas.” (E2).
“A falta de recursos e espaços físicos para desenvolvimento das atividades educativas é uma das dificuldades encontradas na Unidade de Saúde da Família. A estrutura física é inadequada para suportar a quantidade de famílias que a unidade abrange.” (E7).
Pode-se perceber que a estrutura física inadequada na USF e a falta de equipamentos para atender à população prejudicam a produção do cuidado, o que atinge principalmente a população.
Conforme a Política Nacional da Atenção Básica consubstanciada pela Portaria n. 2.488, de 21 de outubro de 2011, do Ministério da Saúde, as definições e princípios gerais que caracterizam a atenção básica compreendem a infraestrutura, os materiais, os insumos e os equipamentos, entre outros20
Ainda com relação às dificuldades vivenciadas pelo enfermeiro na ESF, outros problemas foram identificados nos relatos a seguir:
“[…] e não temos também a contrarreferência para a Estratégia de Saúde da Família.” (E10).
“Falta materiais essenciais para o andamento das atividades tais como: insuficiência de cotas para marcação de exames.” (E7).
“O grande problema aqui é a marcação de exames, porque é gerado uma senha via internet para marcar o exame. E há um mês que estamos sem o serviço da internet.” (E11).
Os enfermeiros demonstram que existem dificuldades no sistema de referência e contrarreferência e na marcação de exames complementares em função da insuficiência do número de cotas. Assim, os usuários não têm direito à realização dos exames necessários para o acompanhamento e a resolutividade dos seus problemas de saúde.
O sistema de referência e contrarreferência está associado à questão dos níveis de atenção à saúde, de acordo com as necessidades de cada usuário e com base no grau de complexidade, na tentativa de ofertar atenção integral à saúde das pessoas, mediante as atribuições estabelecidas em cada nível de atenção à saúde, com um fluxo ordenado de usuários7.
Esses resultados são convergentes com autores21 que afirmam que essa dificuldade na equipe da ESF rompe com os princípios de integralidade e de hierarquização propostos nos princípios da estratégia e cujo propósito é o de possibilitar que o usuário possa ter acesso, em todos os níveis de atenção, às especialidades e aos serviços de urgência e emergência. Ainda, nos relatos dos enfermeiros foram encontradas equipes da ESF que não realizam o cadastramento das famílias da área de abrangência, em virtude de diversos problemas existentes:
“O Siab, não tem instalado no computador da unidade, é um problema. As agentes elas atualizam a ficha A manualmente na própria ficha, frequentemente. Os oficiais não são capacitados para digitar o Siab no computador da unidade.” (E8).
“Temos dificuldade quanto ao Siab, porque não está implantado na unidade. Todas às vezes que precisamos, realiza-se uma busca, realizamos manualmente pelas Fichas A dos Agentes Comunitários de Saúde.” (E9).
“Não têm o Siab implantado no computador da unidade de saúde. […] Não realiza a atualização da ficha A pelos Agentes Comunitários de Saúde, no Siab.” (E16).
Pela análise dessas falas, percebe-se que os enfermeiros têm dificuldade quanto à organização e ao processamento do Siab na ESF. Assim, entende-se que a atualização do cadastramento das famílias no sistema precisa ser uma atividade constante das equipes da ESF para melhor conhecer e acompanhar a população adscrita de um território. Por outro lado, acredita-se que a inexistência do sistema informatizado nas USF não inviabiliza o acompanhamento e a avaliação das ações de saúde.
Os sistemas de informação, quando alimentados com dados referentes às famílias cadastradas, deverão fornecer os indicadores para planejamento e programação das ações de saúde na área de abrangência, considerando que estes permitem conhecer a situação de saúde daquela área22
Nos relatos, os entrevistados destacam a sobrecarga do enfermeiro na ESF como uma dificuldade:
“É a sobrecarga do enfermeiro na equipe de Saúde da Família.” (E5).
“Outra principal dificuldade é o excesso de atividade que o enfermeiro tem na Equipe de Saúde da Família com a parte assistencial, gerencial e educativa do programa.” (E9).
Neste estudo, a sobrecarga do enfermeiro na equipe decorre das diversas atividades gerenciais, políticas, educativas e assistenciais que são de sua responsabilidade em todo o processo de organização, execução e planejamento das ações na ESF. Nesse sentido, faz-se necessária a diminuição da sobrecarga do enfermeiro no processo de trabalho na ESF por meio da redistribuição de algumas atividades com outros membros das equipes de saúde. Assim, corrobora-se aqui com autores23 que afirmam que as atividades de organização e coordenação do processo de trabalho na ESF são de responsabilidade do/da enfermeiro/a, gerando uma sobrecarga de trabalho desse profissional.
Neste contexto, a Portaria 2.488/2011 refere que a gerência na ESF deve ser realizada numa perspectiva do trabalho em equipe, considerando essa atividade comum a todas as categorias profissionais inseridas na ESF – com exceção dos ACS – principalmente com o objetivo de reduzir a sobrecarga do enfermeiro16-19
Diante dos resultados encontrados nesta pesquisa sobre o processo de trabalho dos enfermeiros na equipe da ESF, percebe-se que esse profissional executa o seu processo de trabalho nas seguintes áreas de atuação: gerência, assistência, atividade educativa e em algumas equipes na prática política. Porém, sente-se sobrecarregado com as diversas atribuições no desenvolvimento do processo de trabalho na ESF.
Os dados encontrados na pesquisa permitiram perceber que o enfermeiro atua na assistência nos programas de saúde baseado nas ações programáticas. As ações de promoção e prevenção à saúde dos indivíduos são executadas na sala de espera, durante as visitas domiciliares e na comunidade, com grupos específicos.
O enfermeiro, em algumas equipes, não consegue desenvolver o processo de trabalho conforme preconiza a política ministerial, ainda que cada profissional tenha uma
forma singular de efetuar seu trabalho na equipe de saúde da ESF, em virtude das dificuldades que enfrentam na atual conjuntura política, pois o município parece não dispor de condições mínimas estruturais quanto aos insumos e aos materiais necessários para o desenvolvimento de seu processo de trabalho.
É preciso assegurar àqueles que atuam na ESF melhores condições de trabalho, com o objetivo de criar e melhorar os vínculos entre esses profissionais e os usuários das equipes da ESF – o que melhoraria o desenvolvimento do processo de trabalho entre enfermeiros e usuários e, consequentemente, administração das políticas públicas pelos gestores do Sistema Único de Saúde (SUS).
1. Concepção do projeto, análise e interpretação dos dados: Liane Oliveira Souza Gomes, Flavia Pedro dos Anjos Santos, Vanda Palmarella Rodrigues e Maristela Santos Nascimento.
2. Redação do artigo e revisão crítica relevante do conteúdo intelectual: Liane Oliveira Souza Gomes, Flavia Pedro dos Anjos Santos, Vanda Palmarella Rodrigues e Maristela Santos Nascimento.
3. Revisão e/ou aprovação final da versão a ser publicada: Liane Oliveira Souza Gomes, Flavia Pedro dos Anjos Santos, Vanda Palmarella Rodrigues e Eduardo Nagib Boery.
4. Ser responsável por todos os aspectos do trabalho na garantia da exatidão e integridade de qualquer parte da obra: Liane Oliveira Souza Gomes e Vanda Palmarella Rodrigues.
1. Brito GEG, Mendes ACG, Santos Neto PM. O objeto de trabalho na Estratégia Saúde da Família. Interface Comun Saúde Educ. 2018;22(64):77-86.
2. Gonçalves RBM. Tecnologia e organização social das práticas de saúde: características tecnológicas de processo de trabalho na rede estadual de centros de saúde de São Paulo. São Paulo (SP): Hucitec; 1994.
3. Merhy EE. Saúde: a cartografia do trabalho vivo. São Paulo (SP): Hucitec; 2007.
4. Brasil. Ministério da Saúde, Secretaria de Assistência à Saúde, Coordenação de Saúde da Comunidade. Saúde da família: uma estratégia para reorientação do modelo assistencial. Brasília (DF); 1997.
5. Bardin L. Análise de conteúdo. São Paulo (SP): Edições 70; 2012.
6. Brasil. Ministério da Saúde. Resolução nº 196, de 10 de outubro de 1996. Aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos. Brasília (DF); 1996.
7. Assis MMA, Nascimento MAA, Lima WCMB, Oliveira SS, Franco TB, Jorge MSB, et al. Dimensões teóricas e metodológicas na produção do cuidado em saúde. In: Assis MMA, Levi DL, Nascimento MAA, Franco TB, Jorge MSB, organizadores. Produção do cuidado no programa saúde da família: olhares analisadores em diferentes cenários. Salvador (BA): Edufba; 2010. p. 13-38.
8. Andrade CS, Franco TB. O trabalho de equipes de Saúde da Família de Itabuna e Ilhéus, Bahia. In: Franco TB, Andrade CS, Ferreira VSC, organizadores. A produção subjetiva do cuidado: cartografias da estratégia saúde da família. São Paulo (SP): Hucitec; 2009. p. 61-78.
9. Feuerwerker LCM. Micropolítica e saúde: produção do cuidado, gestão e formação. Porto Alegre (RS): Rede Unida; 2014.
10. Amorim ACCLA, Assis MMA, Santos AM. Vínculo e responsabilização como dispositivos para produção do cuidado na Estratégia Saúde da Família. Rev Baiana Saúde Pública. 2014;38(3):539-54.
11. Bahia. Secretaria da Saúde do Estado da Bahia. Curso de saúde da família e curso de gestão da atenção básica com ênfase na implantação das linhas de cuidado. Salvador (BA): Sesab; 2009.
12. Jequié. Secretaria Municipal de Saúde. Relatório de gestão. Jequié (BA); 2010.
13. Franco TB, Merhy EE. Programa de saúde da família (PSF): contradições de um programa destinado à mudança do modelo tecnoassistencial. In: Merhy EE, Magalhães HM Jr, Rimoli J, Franco TB, Bueno WS. O trabalho em saúde: olhando e experienciando o SUS no cotidiano. São Paulo (SP): Hucitec; 2007. p. 55-124.
14. Nascimento MS, Nascimento MAA. Prática da enfermeira no Programa de Saúde da Família: a interface da vigilância da saúde versus as ações programáticas em saúde. Ciênc Saúde Colet. 2005;10(2):333-45.
15. Andrade LOM, Barreto ICHC, Bezerra RC. Atenção primária à saúde e estratégia Saúde da Família. In: Campos GWS, Minayo MCS, Akeman M, Drumond M Jr, Carvalho YM, organizadores. Tratado de saúde coletiva. São Paulo (SP): Hucitec, 2012. p. 783-835.
16. Vidal LM, Boery EN, Nery AA, Rodrigues VP. Processo de trabalho e prática gerencial no Programa Saúde da Família. Enferm Atual. 2010;10(60):14-6.
17. Vanderlei MIG, Almeida MCP. A concepção e prática dos gestores e gerentes da estratégia de saúde da família. Ciênc Saúde Colet. 2007;12(2):443-53.
18. Hausmann M, Peduzzi M. Articulação entre as dimensões gerencial e assistencial do processo de trabalho do enfermeiro. Texto Contexto Enferm. 2009;18(2):258-65.
19. Orrico GS, Lourenço RO, Souza MKB, Lima CA, Araújo RS, Santana SP. Práticas de planejamento em uma unidade de saúde da família: um relato de experiência. Rev Baiana Saúde Pública. 2014;38(1):213-22.
20. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria n. 2.488, de 21 de outubro de 2011. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da atenção básica, para a estratégia saúde da família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília (DF); 2011 out 24. Seção 1, p. 48.
21. Silva LMS, Fernandes MC, Mendes EP, Evangelista NC, Torres RAM. Trabalho interdisciplinar na estratégia saúde da família: enfoque nas ações de cuidado e gerência. Rev Enferm UERJ. 2012;20(esp. 2):784-8.
22. Nascimento MS. Prática da enfermeira no Programa de Saúde da Família: a interface da vigilância da saúde versus as ações programáticas em saúde [dissertação]. Feira de Santana (BA): Universidade Estadual de Feira de Santana; 2003.
23. Souza MCMR, Horta NC. Enfermagem em saúde coletiva: teoria e prática. Rio de Janeiro (RJ): Guanabara Koogan; 2016.
Recebido: 29.4.2016. Aprovado: 17.6.2020.
Marieli
Amanda Castroc
Jacks Sorattod
O presente trabalho versa sobre o papel do psicólogo na Estratégia Saúde da Família (ESF), com base no contexto da residência multiprofissional. Trata-se de uma pesquisa integrativa, com base nos artigos sugeridos no edital da residência multiprofissional Unesc nº 270/2017 que compreendem os conhecimentos de psicologia. A análise dos resultados se deu com o auxílio do software Atlas TI 8.2.32. O artigo foi divido em 21 códigos, agrupados em quatro categorias, sendo elas: função do psicólogo na ESF, com dez códigos; psicólogo na ESF – dificuldades, com sete códigos; aspectos sociais, com seis códigos; e prestação de contas, com dois códigos. Os resultados mostram a importância do psicólogo na equipe da ESF no que diz respeito ao contato com a população e à troca de conhecimentos com a comunidade para compreender quais comportamentos e subjetividades estão envolvidos na prática da promoção de saúde. Os artigos versam também acerca da importância da reestruturação da identidade do psicólogo, que por vezes tem sua representação social atrelada ao atendimento clínico, problematizando
a Mestranda em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Criciúma, Santa Catarina, Brasil. E-mail: camilamaffioleticavaler@gmail.com
b Mestranda em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Criciúma, Santa Catarina, Brasil. E-mail: marielimezari@gmail.com
c Psicóloga. Doutora em Psicologia. Docente de Psicologia na Universidade do Extremo Sul Catarinense e na Faculdade Estácio de Sá. Criciúma, Santa Catarina, Brasil. E-mail: amandacastrops@gmail.com
d Doutor em Enfermagem. Docente no Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade do Extremo Sul Catarinense. Criciúma, Santa Catarina, Brasil. E-mail: jacks@unesc.net
e Graziela Amboni. Mestre em Ciências da Saúde. Docente de Psicologia na Universidade do Extremo Sul Catarinense. E-mail: gam@unesc.net
Endereço para correspondência: Universidade do Extremo Sul Catarinense. Av. Universitária, n. 1.105, Bairro Universitário. Criciúma, Santa Catarina, Brasil. CEP: 88806-000. E-mail: camilamaffioleticavaler@gmail.com
ainda o fortalecimento de tal representação nas grades curriculares das graduações. Entende-se, por fim, que o psicólogo que atua na saúde pública deve ter seu trabalho pautado nas diretrizes do Sistema Único de Saúde, entendendo que a população deve estar no centro do diálogo de modo a desenvolver a autonomia dos sujeitos. Para tanto, percebe-se a necessidade de formações continuadas que instrumentalizem o trabalho do psicólogo diante da população.
Palavras-chave: Saúde pública. Estratégia Saúde da Família. Formação profissional. Participação da comunidade.
THE ROLE OF PSYCHOLOGISTS IN THE ESF
This paper analyzes the role of the psychologist in the Family Health Strategy based on the context of multiprofessional residence. It is an integrative research targeting psychology articles suggested in the publication of the multiprofessional residence Unesc 270/2017 comprising the knowledge of psychology. The results were analyzed using Atlas TI version 8.2.32. The article was divided into 21 codes, and grouped into four categories, namely: role of the psychologist in the ESF, with 10 codes; ESF psychologist challenges, with 7 codes; social aspects, with 6 codes; and accountability, with 2 codes. The results show the importance of psychologists in the family health strategy team regarding contact with the population and the exchange of knowledge with the community to understand what behaviors and subjectivities are involved in the practice of health promotion. The importance of restructuring the identity of psychologists was also evidenced, as they sometimes have their social representation linked to clinical care, as verified by the strengthening of such representation in the curricular grades of tertiary education. Lastly, psychologists who work in public health should follow SUS guidelines, understanding that the population should be their focus in order to develop the autonomy of subjects. Therefore, the need for continuous training to instrumentalize the work of psychologists working directly with the general population.
Keywords: Public health. Family Health Strategy. Professional qualification. Community participation.
El presente trabajo versa sobre el papel del psicólogo en la Estrategia de Salud de la Familia (ESF), desde el contexto en la residencia multiprofesional. Se trata de una investigación integrativa, con base en los artículos de psicología sugeridos en la convocatoria para la residencia multiprofesional Unesc 270/2017 que comprenden los conocimientos de psicología. Para el análisis de los resultados se utilizó el software Atlas TI 8.2.32. El artículo fue dividido en 21 códigos, los cuales fueron agrupados en cuatro categorías: función del psicólogo en la ESF, con 10 códigos; psicólogo en la ESF, dificultades con 7 códigos; aspectos sociales, con 6 códigos y rendición de cuentas con dos códigos. Los resultados muestran la importancia del psicólogo en el equipo de la estrategia de salud de la familia en lo que se refiere al contacto con la población y el intercambio de conocimientos con la comunidad para comprender qué comportamientos y subjetividades están involucrados en la práctica de la promoción de la salud. Los artículos abordan también la importancia de la reestructuración de la identidad del psicólogo, que a veces tienen su representación social vinculada a la atención clínica, problematizando aún sobre el fortalecimiento de esta representación en el plan de estudios de los cursos en las graduaciones. Se entiende que el psicólogo que actúa en la salud pública debe tener su trabajo pautado en las directrices del Sistema Único de Salud, considerando que la población debe estar en el centro del diálogo para desarrollar la autonomía de los sujetos. Para ello, se percibe la necesidad de formaciones continuas que instrumentalicen el trabajo del psicólogo ante la población.
Palabras clave: Salud pública. Estrategia Salud de la Familia. Formación profesional. Participación de la comunidad.
No ano de 1978, o mundo presenciou a elaboração de um marco para a promoção de saúde: a Declaração de Alma-Ata1, que é considerada um símbolo internacional na promoção de saúde. A declaração trouxe como meta a saúde para todos até o ano 2000. Como sabemos, tal meta não foi alcançada, no entanto a conferência trouxe um novo modo de pensar para
a saúde pública. Passou-se a pensar a saúde de forma articulada, com a gestão de equipes multiprofissionais, abandonando gradativamente o modelo medicamentoso e hospitalocêntrico até então vigente. O modelo preconizado pela conferência coloca a participação comunitária como estratégia fundamental para o planejamento e gestão de cuidados com a saúde. Além disso, passa a pensar a saúde em longo prazo, de forma articulada e com políticas públicas de atenção aos cuidados primários1
No clima internacional de promoção de saúde e com o enfraquecimento da ditadura militar no Brasil, os movimentos sociais ganham força, em especial o movimento sanitário. Com a promulgação da Constituição de 1988, instituiu-se saúde como um direito de todos e dever do Estado, instaurando o princípio de universalidade e gratuidade, o que até então não era garantido por lei, visto que até esse período somente tinham direito à saúde gratuita trabalhadores formais com carteira assinada. Diante dessa nova demanda, no ano de 1990 é aprovada a Lei nº 8.080, efetivando a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), que passa a ser norteado pelos princípios de universalidade de acesso, equidade de ações e integralidade da atenção2.
Entre as diretrizes da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, ficaram definidas como dever do Estado a formulação e execução de políticas públicas que assegurem o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, com políticas direcionadas à promoção de saúde. A lei reconhece como determinante em saúde as condições de moradia, alimentação, saneamento básico, trabalho, meio ambiente, renda, educação, transporte, lazer e práticas de atividade física. Entre suas diretrizes estão a universalidade, ou seja, o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; a integralidade, entendida como conjunto articulado e contínuo de promoção, prevenção e cura, quando assim for necessário; bem como a equidade, reconhecendo as particularidades dos sujeitos e suas demandas3. Com a criação do SUS, o governo federal passou a descentralizar o atendimento em saúde, focando nas necessidades locais da população4
O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamentou a Lei nº 8.080/1990, esclarecendo-a e inovando-a em alguns aspectos. Para fins de garantia da integralidade, o decreto instituiu o trabalho em Rede de Atenção à Saúde, promovendo um conjunto de ações que trabalham de forma articulada, de acordo com o nível de complexidade da situação. O acesso universal e igualitário é ordenado pelas portas de entrada do SUS – atenção primária, atenção de urgência e emergência, atenção psicossocial e serviços especiais de acesso aberto – e completa-se ante uma rede de atendimento hierarquizada. Dessa forma, o decreto garante a isonomia dos usuários usando como critério de acesso a gravidade do risco ao paciente e a ordem cronológica de chegada ao serviço5
A Atenção Primária em Saúde (APS) é a principal porta de entrada da população para os serviços de saúde oferecidos pelo SUS, sendo um mecanismo para pensar o sujeito e não a enfermidade que o acomete. Pauta-se por uma abordagem preventiva e de promoção de saúde que integra saberes, trabalhando de forma interdisciplinar e atuando de forma coletiva com a rede de profissionais e usuários do território que ocupa. A APS garante atenção integral e contínua à população, apoiada no atendimento humanizado e nos princípios do SUS. Desde a Declaração de Alma-Ata, diversas pesquisas têm mostrado que um sistema de saúde baseado no modelo de atenção primária, que trabalha a partir da articulação de ações e saberes, é mais efetivo e equitativo, além de significar um melhor investimento de recursos em saúde por parte do Estado2
Entre os saberes que instrumentalizam o SUS, destaca-se a importância da epidemiologia como estratégia para o delineamento de prioridades e investimento de recursos. Define-se6 epidemiologia como a ciência que estuda o processo saúde-doença na coletividade, analisando a distribuição de fatores que determinam problemas de saúde. Tal ciência propõe medidas de prevenção, controle e erradicação de doenças, além de construir indicadores e dar suporte ao planejamento e às ações de saúde. Percebe-se diante de tal definição que conhecer a maneira como as condicionalidades de saúde afetam a população é o principal passo para a estruturação de políticas públicas de saúde.
Diante disso, no Brasil, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, apoiado em análise das informações epidemiológicas brasileiras, reflete acerca da transição singular e acelerada de doenças que acometem a população do país. No ano de 1930, as doenças infecciosas respondiam a 46% das mortes, enquanto no ano de 2000 este número cai para menos de 5%. No entanto, as doenças cardiovasculares, que representavam 12% das mortes em 1930, em 2009 respondem por quase 30% dos óbitos. Colocando-se as doenças cardiovasculares no grande grupo das doenças crônicas e reconhecendo o grupo de doenças crônicas como o das doenças endócrinas, metabólicas, nutricionais, neoplasias, doenças respiratórias, doenças do sistema nervoso e transtornos mentais, e acrescentando a violência como um problema crônico de saúde pública, a taxa de mortalidade por condições crônicas chegará a aproximadamente 80%7.
Mesmo diante desses dados e das diretrizes da Declaração de Alma-Ata, muitos municípios voltam a atenção em saúde para o atendimento de condições agudas, pautados no ideal curativo, agindo de forma fragmentada e episódica com a população atendida. Tal incoerência resulta na falta de articulação entre a atenção básica de saúde e a atenção secundária, e de ambas com a atenção terciária, tornando-se impossível prestar um atendimento
contínuo à população. Diante de tal problemática, por meio de portarias e decretos presidenciais, criaram-se as Redes de Atenção à Saúde, que têm por objetivo articular os mecanismos de atuação do SUS, prestando um serviço com olhar integral, de qualidade e resolutividade para a população. A atenção primária de saúde funciona como centro de comunicação das redes7
A funcionalidade da rede de APS permite a prevenção de patologias e a resolubilidade de até 90% da demanda da comunidade. Além disso, auxilia na condução do manejo terapêutico de pacientes com demanda especializada atendidos primeiramente por profissionais de saúde da atenção primária. Assim, possibilita melhor controle do desperdício de recursos financeiros e materiais, redução da demanda especializada e maior alcance dos resultados em saúde, além de promover o vínculo de confiança entre usuário e profissionais de saúde 2
Pensando nesse viés de atendimento, através da Portaria nº 648, de 28 de março de 20068, em substituição ao Programa de Saúde da Família (PSF), estruturou-se a Estratégia Saúde da Família (ESF), tornando a atenção à família uma estratégia contínua e permanente.
A ESF ainda não é hegemônica no Brasil, mas é o principal modelo expresso pela articulação da Rede. Nela, o cuidado primário está centrado em uma equipe multiprofissional que trabalha de forma transdisciplinar por meio de atendimentos individuais e de grupos7. Tal modelo é estruturado a partir de um caráter coletivo e integral, construído com base na articulação de diversos profissionais de saúde e planejado com base em um viés de participação efetiva da comunidade, focado em uma perspectiva de saúde inclusiva e multidimensional2
Foi nesse modelo onde a medicina curativa passou a dar lugar à atenção básica que a psicologia e outros saberes ganharam espaço para atuação dentro da saúde pública. O encontro de diversos saberes fez com que as problemáticas de saúde passassem a ser percebidas a partir de um olhar multifatorial que compreende a promoção de saúde como prática que interfere nos diversos campos do saber, influenciando-os. Logo, não cabe pensarmos em uma intervenção multidisciplinar onde cada profissional exerce seu trabalho de maneira isolada dos demais, mas sim em uma intervenção transdisciplinar, onde os diversos saberes científicos se unem ao saber popular, considerando a cultura e a formação social dos indivíduos como determinantes para sua saúde4.
Esse cenário fez com que a psicologia clínica centrada no atendimento individual perdesse espaço para a psicologia social e comunitária, em que o psicólogo, abandonando a dicotomia indivíduo-sociedade, dá vez a um olhar voltado para a maneira como este sujeito se insere na sociedade, transformando-a e sendo transformado por ela. A psicologia comunitária tem seu enfoque de trabalho voltado principalmente para grupos, buscando a formação de uma
consciência crítica. Tem como principal característica uma perspectiva coletiva, comprometida com os direitos sociais e com a cidadania. Dessa forma, busca envolver os próprios sujeitos na formulação de propostas que transformem o ambiente em que vivem9
A psicologia comunitária10 é o elo entre a comunidade e os programas de saúde e serve como estratégia de aproximação desses com seus usuários. É através desse modelo que os projetos desenvolvidos poderiam atuar de forma integrada e estratégica para a promoção de saúde e prevenção de doenças. A psicologia social na saúde11 vem ao encontro das propostas do SUS de saúde integral e ganha espaço na APS, principalmente na ESF. A partir dessa vertente psicológica é possível construir um modelo de atenção em saúde condizente com a realidade local e que funcione como interlocutor entre equipe de saúde e comunidade.
Entendendo que a gestão em saúde depende em grande parte da capacitação dos profissionais que atuam na Rede de Saúde, no ano de 2005, com o art. 13 da Lei nº 11.129/2005, o Governo Federal e o Ministério da Saúde instituíram a residência em área multiprofissional e de saúde coletiva voltada para as categorias profissionais da área da saúde. O intuito da lei é favorecer a inserção qualificada de jovens profissionais de saúde de acordo com os princípios do SUS12. No ano de 2009, com a Portaria Interministerial nº 1.077/2009, institui-se o Programa Nacional de Bolsas para Residências. A portaria define os profissionais que podem atuar como residentes: biomédicos, profissionais de educação física, enfermeiros, farmacêuticos, biólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, veterinários, nutricionistas, dentistas, psicólogos, assistentes sociais e terapeutas ocupacionais13
Em Criciúma (SC), a entidade responsável pela residência multiprofissional e residência em saúde coletiva é a Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc), que em parceria com a Secretária Municipal de Saúde concede os locais para as atividades práticas e beneficia os residentes com bolsas de estudo com duração de 24 meses. As bolsas são financiadas pelo Ministério da Saúde e Ministério da Educação e fornecidas a profissionais de saúde graduados, registrados em seus conselhos, das áreas de enfermagem, fisioterapia, farmácia, psicologia, nutrição e bacharéis em educação física. Atualmente, os dois programas de residência oferecem 21 bolsas anuais. O residente tem carga horária semanal de 60 horas em regime de dedicação exclusiva, em que 80% do regime é realizado em atividades práticas e 20% em aulas teóricas ou teórico-práticas. Ao concluir a residência, o residente receberá o certificado de Especialista em Atenção Básica/Saúde da Família ou Especialista em Saúde Coletiva14
A residência multiprofissional configura-se como estratégia de afastamento do modelo médico-assistencial hegemônico no Brasil, buscando a integralidade das ações em saúde.
Tais perspectivas de mudanças baseiam-se no diálogo entre docência, assistência, gestão do SUS, usuários e profissionais em formação15. Diante da equipe multiprofissional encontrada nas Unidades Básicas de Saúde – UBS e trabalhando na perspectiva da ESF, o profissional de psicologia tem importante contribuição para as equipes e na qualificação dos problemas individuais ou coletivos da população, tornando as estratégias de intervenção mais efetivas16. Diante desse modelo de intervenção, apesar de se reconhecer a importância do domínio das técnicas, salienta-se que ainda mais importante do que o conhecimento erudito é tornar tal conhecimento adaptável e flexível para ser capaz de lidar com aspectos multidimensionais do campo da saúde4 Colaborando com tais pensamentos17, considera-se que a promoção de saúde parte de fatores psicológicos como hábitos, atitudes, motivação, interações pessoais e familiares. Tais aspectos podem ser melhor alcançados com a presença do profissional de psicologia na equipe multiprofissional, que além de estar atento à subjetividade envolta no contexto saúdedoença, colaborará com o diagnóstico psicossocial, auxiliando na efetivação do pressuposto da integralidade. Assim, a presença do psicólogo no contexto da residência é relevante, pois este profissional compreende que crenças, ideias, sentimentos e pensamentos fazem parte dos processos de promoção, prevenção e tratamento, devendo ser considerados na efetivação de políticas públicas16. Tem-se então por objetivo compreender o papel do psicólogo na ESF com base no contexto da residência multiprofissional.
O presente artigo trata-se de uma pesquisa documental em que os dados obtidos são provenientes de documentos para obter informações a fim de compreender um fenômeno descrito em textos escritos e documentos de natureza iconográficas ou qualquer testemunho registrado18.
Compreendendo que o edital de seleção para a residência em saúde coletiva da Unesc apresenta como sugestão de literatura para estudo dos aspectos relevantes para o desempenho do papel do profissional de psicologia na ESF, para este trabalho foram selecionados artigos do edital nº 270/2017, que compreendem os conhecimentos específicos em psicologia, o que qualifica o presente estudo como uma revisão integrativa de literatura. Assim, pretende-se um profundo entendimento acerca do papel a ser desempenhado pelo psicólogo na ESF e assim instrumentalizar os profissionais da área.
Inicialmente, o edital nº 270, de 2017, foi consultado e foram catalogados 12 artigos na área de psicologia, duas normas técnicas de referência em psicologia (Conselho Regional de Psicologia), oito portarias de atuação, duas leis, um decreto, um artigo de saúde
coletiva, sete livros de saúde coletiva e o Código de Ética de psicologia. Para esta pesquisa foram selecionados apenas os artigos de psicologia, tendo em vista que o objetivo do presente estudo é a caracterização do papel do profissional de psicologia na ESF. Os artigos selecionados, bem como seus objetivos, encontram-se ilustrados no Quadro 1. As demais referências serão utilizadas como estratégia de discussão, sendo igualmente apontadas na revisão narrativa presente na parte introdutória desse artigo.
Quadro 1 – Artigos selecionados
Autor Data Título Objetivos
Benevides 2005 A psicologia e o Sistema Único de Saúde: quais interfaces?
Costa e Olivo 2007 Novos sentidos para a atuação do psicólogo no Programa Saúde da Família
Ferreira Neto 2010 A atuação do psicólogo no SUS: análise de alguns impasses
Jimenez 2011 Psicologia na atenção básica à saúde: demanda, território e integralidade
Lima e Yasui 2014
Discute-se a relação da psicologia com o SUS, partindo de um ponto de crítica à psicologia apolítica presente na formação e prática dos psicólogos.
O artigo tem por objetivo analisar alguns sentidos associados com a atuação do psicólogo inserido no Programa de Saúde da Família (PSF).
O estudo discute alguns impasses vividos pelos psicólogos no SUS.
O estudo teve por objetivo revelar a importância das disputas sobre o território e o histórico de instituições de saúde mental para crianças e adolescentes de São Paulo.
Territórios e sentidos: espaço, cultura, subjetividade e cuidado na atenção psicossocial
Matos 2004 Psicologia da saúde, saúde pública e saúde internacional
Oliveira et al. 2004
Prates e Nunes 2009
Pires e Braga 2009
O psicólogo nas unidades básicas de saúde: formação acadêmica e prática profissional
A (re)construção do lugar do psicólogo na saúde pública: das quatro paredes do centro de saúde para os lares
O psicólogo na saúde pública: formação e inserção profissional
Busca discutir o conceito de território e seus usos na prática de atenção psicossocial a partir do diálogo entre as teorias de Gilles Deleuze, Félix Guattari e Milton Santos.
Tem por objetivo o conhecimento da psicologia no âmbito da saúde pública, em questões relacionadas com a saúde a nível de investigação, intervenção, formação e inovação do sistema.
O objetivo do estudo foi caracterizar a formação e a atuação do psicólogo vinculado às Unidades Básicas de Saúde de Natal (RN).
Trata-se de um relato de experiência de estágio curricular na saúde pública.
Trata-se de uma revisão de literatura a respeito da inserção do psicólogo na saúde pública no Brasil, sua formação e atuação profissional.
Poupel 2014 Psicologia na saúde pública Intenta possibilitar reflexões a partir da área de atuação de psicologia na saúde pública.
Silva e Carvalhaes 2016 Psicologia e políticas públicas: impasses e reinvenções
Souza, Garbinato e Martins 2012 A atuação do psicólogo no Sistema Único de Saúde: uma revisão
Fonte: Elaboração Própria.
O artigo tem por objetivo problematizar os impasses e possibilidades de atuação da psicologia no campo das políticas públicas.
Intenta o levantamento da produção científica envolta na atuação do psicólogo no SUS.
Os 12 artigos da área de psicologia foram analisados com o auxílio do software Atlas
TI 8.2.32. O software é uma ferramenta de análise qualitativa que tem a função de facilitar a análise de um grande volume de dados. Como seu foco é a análise qualitativa ele não pretende tornar a
pesquisa uma análise automática, mas simplesmente auxiliar o pesquisador nos passos de tal análise, como a segmentação do texto em códigos e a criação de categorias por análise de conteúdo19.
A análise de conteúdo é uma descrição objetiva, sistemática e exploratória do conteúdo extraído de determinada fonte de comunicação e de sua interpretação. A partir disso, os resultados são codificados e o autor da pesquisa integrativa faz inferências acerca do material pesquisado. Nessa perspectiva, as categorias são recortes que agrupam determinados elementos com características comuns. A técnica de análise de conteúdo permite a compreensão e posterior aplicação de determinados conceitos20
A organização dos dados oportunizou a análise de 97 trechos dos artigos que foram vinculados a 21 códigos. A Tabela 1 ilustra o número de trechos de comentários relacionados aos
Revista Baiana de Saúde Pública
Os 21 códigos foram agrupados em quatro grupos de códigos ou categorias, a saber: Função do psicólogo na ESF, Psicólogo na ESF – dificuldades, Aspectos sociais, Prestação de contas. A Figura 1 demonstra a relação dos códigos com os grupos de códigos:
Figura 1 – Relação entre os códigos e as categorias referentes à função do psicólogo na ESF
Ações para a garantia de direitos Promoção do suporte social
Aspectos Sociais
Diagnóstico psicossocial
Protagonismo social Promoção da saúde
Promoção do auto suporte emocional
Processos grupais
Função do psicólogo na ESF
Intervenção comunitária
Desenvolvimento da equipe
Atendimento individual
Interface da Psicologia com outros saberes
Psicoeducação Presença
Não reconhecimento do conhecimento dos usuários
Defasagem na formação do psicólogo
Dificuldade em transpor o modelo clínico
Prestação de contas
Falta de conhecimento acerca do trabalho do psicólogo
Psicólogo na ESF - dificuldades
Infra estrutura inadequada
Falta de credibilidade
Dificuldade de atuação interdisciplinar
Ausência
O primeiro grupo de códigos é a Função do psicólogo na ESF. O grupo conta com dez códigos, sendo o primeiro deles o Promoção da saúde, com 26 ocorrências.
Nelas estão trechos que tratam da promoção da saúde relacionada a estilo de vida, algo passível de intervenção ou investigação por meio do comportamento: ressaltam a “[…] importância de se conhecer as reais necessidades de saúde de uma dada coletividade (prevenção e promoção)”21:133. Reafirmam ainda que “a psicologia assumiu um novo olhar sobre o sujeito que considera o processo de adoecimento como uma construção social, baseado no contexto em que o indivíduo está inserido”22:98. Então, “o comportamento dos indivíduos passou a ser o principal objeto de estudo, considerado a partir de então uma das principais causas de morbilidade e mortalidade humana”23:452
Esses trechos exemplificam o código ao qual pertencem por compreender a saúde multifacetada, considerando a definição do SUS acerca dos determinantes sociais em saúde (DSS) como fatores relevantes para o adoecimento. Por DSS compreendem-se os fatores determinantes ou condicionantes para o adoecimento como alimentação, moradia saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens de serviço e assistenciais3. Para exemplificar, adotar-se-á o modelo de Dahlgren e Whitehead dos DSS.
Neste modelo, as características individuais como idade, sexo e fatores genéticos que não são determinadas socialmente estão no centro, seguidas de uma camada onde aparecem os comportamentos e estilos de vida. Neste ponto é preciso salientar que as opções de comportamento e estilo de vida estão fortemente condicionadas por determinantes sociais como informação, propaganda, acesso a alimentos saudáveis, pressões grupais, entre outros. A camada seguinte expressa as redes comunitárias e de apoio, cuja maior coesão está diretamente relacionada com o maior ou menor poder aquisitivo. No próximo nível estão relacionadas as condições de vida e de trabalho, disponibilidade de alimentos, acesso a serviço de saúde e educação e garantia de moradia. Por fim, no último nível estão associados aos macros determinantes relacionados as condições econômicas, culturais e ambientais da sociedade24
Diante disso, o psicólogo na ESF tem por premissa considerar a saúde a partir de diversas variáveis, dentre as quais o contexto do indivíduo e suas relações, ou seja, não só a subjetividade, mas a intersubjetividade. Logo, não se trata de modificar um comportamento individual considerado de risco, mas sim identificar quais normas culturais os mantém e de que forma pode-se fazer com que os sujeitos repensem tais normas.
Outro código dentro deste grupo, Diagnóstico psicossocial, com quatro ocorrências, trata da intervenção e levantamento de dados levando em consideração o contexto sociocultural. Tal código indica que a psicologia deve entender o território a partir de um diagnóstico prévio, onde pode-se usar como instrumento de coleta de dados as visitas domiciliares feitas pelas agentes comunitárias e os dados coletados por estas. Além disso, é instrumento para o diagnóstico psicossocial a observação dos grupos, dos índices de violência e de adoecimento do território, bem como o reconhecimento dos dispositivos de saúde e demais setores, como assistência social e educação, a fim de mapear possíveis articulações entre os serviços25. Assim, pode-se identificar os problemas existentes, escolher prioridades e planejar as atividades a serem desenvolvidas, levando o psicólogo e toda a equipe da ESF a ficarem atentos aos fatores causais relacionados à condição de adoecimento26
O código Interface da psicologia com outros saberes traz quatro ocorrências que salientam a importância do trabalho transdisciplinar para a efetivação do pressuposto da integralidade. O trabalho do psicólogo comunitário é essencialmente transdisciplinar, realizado por equipes multiprofissionais com formação generalista. Segundo Luz27, a saúde coletiva é um campo complexo que exige múltiplos olhares de diferentes ângulos. Diante disso, faz-se necessário discorrer acerca da diferença de atuação multi, inter e transdisciplinar. No que tange a multidisciplinariedade, trata-se da justaposição da percepção de diversos profissionais, onde cada um deles trabalha de acordo com a sua área profissional. Já a interdisplinaridade extrapola a justaposição de saberes para propor um diálogo entre especialista de diversas áreas. No entanto, é preciso repensar a atuação do psicólogo na ESF como uma atuação transdisciplinar, onde além de considerar a interdisplinaridade do saber científico, considera o sistema de crenças e a subjetividades dos sujeitos. Trata-se não apenas da discussão entre os saberes, mas da imersão de um novo saber a partir desta discussão.
Colaborando com a discussão acerca da valorização dos saberes, Spink4 afirma que o fazer prático em saúde é permeado de complexidades. A autora entende que há uma tendência à simplificação de tais complexidades, o que pode ser ilustrado a partir da prática interdisciplinar. Nessa abordagem, é como se o saber fosse passível de ordenamento, divisão e simplificação, onde cada profissional detém a verdade de parte de um todo. Entende-se que no viés de trabalho transdisciplinar é preciso compreender a complexidade e assim entender que não existe uma ordem, mas sim maneiras de ordenar, lógicas e discursos. A ordem dá lugar a maneiras de atuar e tais maneiras precisam considerar a subjetividade dos sujeitos atendidos4
No código Desenvolvimento da equipe há três ocorrências. Nessa categoria foram inseridos os trechos de artigo que identificam a relevância do psicólogo na mediação de conflitos
da equipe e na promoção de seu desenvolvimento interpessoal, por exemplo: “Esse momento de discussão, mediado pelo psicólogo, possibilita elaborar conflitos, angustias e dificuldades inerentes ao trabalho com a saúde, além de promover maior integração entre os membros da equipe, focalizando uma atuação mais integral à saúde”28:1391. Para tal, é preciso que o profissional de psicologia se insira na instituição reconhecendo os aspectos históricos ali instituídos e os atores das forças sociais que ali interagem e de que forma eles afetam a intervenção em saúde4 Podem também atuar na direção da humanização do atendimento e na qualificação da relação entre as equipes os usuários e as comunidades estabelecidas no território16.
Como estratégia de instrumentalização da equipe, Cezar, Rodrigues e Arpini25 destacam a importância do desenvolvimento de ações ampliadas de maneira intersetorial, como intervenções em promoção, prevenção e educação em saúde, bem como a articulação com os demais serviços da rede disponíveis no município. Quanto a isso, a instrumentalização dos profissionais pode se dar de forma efetiva a partir da participação em espaços coletivos, como o Conselho Municipal e Local de Saúde, Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes e Comissão de Saúde Mental.
No que se refere ao código Protagonismo Social, com quatro ocorrências, os trechos identificados como pertencentes a esse código indicam a necessidade de atuação do psicólogo de forma a tornar os próprios usuários os protagonistas do serviço de saúde.
Faz-se indispensável desenvolver abordagens participativas, onde o usuário junto com seus familiares e comunidade em geral sejam reconhecidos como atores, cooperando com a gestão de políticas de saúde, motivando a geração de serviços descentralizados, flexíveis e apropriados aos interesses da clientela.29:198
Para isso, faz-se uso de metodologias participativas que retiram os usuários de uma condição passiva para atuar junto com os profissionais e repensar a forma de intervenção na comunidade. Dessa forma, saímos de um modelo mecânico de transferência de conhecimento para uma educação transformadora e humanista, onde não existe um outro que não sabe, mas saberes diferentes e igualmente válidos para a ação humana30.
Três códigos tiveram duas ocorrências, sendo eles: Atendimento individual, Intervenção comunitária e Processos grupais. Enquanto o primeiro destaca a possibilidade do atendimento individualizado enfatizando que o “trabalho clínico também implica desestabilizar territórios muito restritos e enrijecidos”31, os dois últimos tratam da importância da consideração dos laços de pertencimento de grupo e do fortalecimento da identidade social. Segundo o
Conselho Federal de Psicologia16, a atuação do psicólogo se dá por meio da aplicação dos conhecimentos e técnicas de forma individual e coletiva para o enfrentamento do adoecimento, tendo como objeto o sujeito psicológico e os fatores multideterminantes de saúde.
Para que o trabalho do profissional de psicologia e dos demais profissionais de saúde contemple efetivamente aspectos sociais e coletivos, fazem-se necessários programas de formação continuada que estejam em consonância com os princípios e diretrizes do SUS. No que se refere a tal formação, Ceccim e Feuerwerker32 afirmam que a formação não deve ter como núcleo organizador a elaboração de diagnósticos, profilaxia, tratamento e prevenção de agravos, mas sim, estar voltada para o redimensionamento da autonomia das pessoas. A formação deve englobar aspectos da produção da subjetividade, do pensamento e do conhecimento acerca do SUS.
Por fim, temos dois códigos com uma ocorrência em cada, o primeiro trata da Psicoeducação no contexto da assistência, prevenção e promoção de saúde. Assim, o psicólogo poderia prevenir as necessidades de atendimentos ambulatoriais e hospitalares ou promover o encaminhamento do usuário para o atendimento efetivo. Para isso, o psicólogo precisa entender o funcionamento do SUS em rede, compreendendo que cabe à atenção primária estratégias de prevenção e promoção de saúde, mas sempre que necessário há a possibilidade de encaminhamento para os serviços especializados, que devem funcionar de forma articulada com a atenção primária proporcionando o cuidado contínuo ao usuário7. No segundo código, Promoção do auto suporte emocional dos sujeitos, discute-se a promoção de competências emocionais que sirvam como norteadoras para a busca de uma vida saudável, com o intuito de promover a autonomia dos atores sociais. O bem estar psicológico está relacionado a vivências saudáveis, associadas à percepção de controle sobre a vida, liberdade de escolha, autonomia e satisfação16.
O trabalho na ESF exige um perfil profissional flexível, aberto as demandas da comunidade e apto para o trabalho em equipe. Trata-se de uma atuação voltada para a promoção da saúde que tenha em sua prática a capacidade de articulação entre saberes. No entanto, o desempenho das funções do profissional de psicologia perpassa por dificuldades tanto em nível de infraestrutura como em ações que façam jus aos princípios norteadores do SUS.
O segundo grupo de códigos apresenta as dificuldades existentes na ESF concernentes à atuação do psicólogo e conta com sete códigos. O código Dificuldade em transpor o modelo clínico conta com 11 ocorrências e apresenta o modelo de atuação clínica, principalmente psicanalítico, potencializador de status ao psicólogo dentro da ESF.
Nesse código é evidenciado que esses profissionais percebem-se menos psicólogos quando não atuam no contexto clínico. Também fica claro nos trechos dos artigos agrupados que essa atuação exclusivamente individualizada não dá conta da demanda, gerando um número maior de pessoas sem acesso ao serviço. Os trechos a seguir exemplificam este código: “[…] grande parte dos profissionais acaba por transpor o modelo da prática clínica tradicional, individualizante, para os espaços públicos”33:62; “se recusam com isso a exercer outras importantes ações na saúde pública, por não serem suficientemente psicanalíticas”34:400; “são muitos casos de tratamentos que se prolongam por anos, e são muitas as queixas – de profissionais e usuários – da demanda crescente e não atendida”35:83.
A prática clínica individual pode ser realizada quando assim necessário, no entanto é preciso compreender que a prática da saúde pública vai além da aplicação de técnicas baseadas em teorias de personalidade. O trabalho deve ser adaptável e flexível de modo a conseguir lidar com a multiplicidade do campo de saúde5. Colaborando com isso, Yamamoto36 ressalta que o modelo tradicional de psicoterapia tem impedido o psicólogo de desenvolver ações na atenção primária, mostrando-se como uma reprodução pura do modelo psicanalítico, sem problematizar as adequações desse modelo teórico para o campo da saúde pública.
Uma das explicações para a pura transposição do modelo clínico para a saúde pública é elucidada no código Defasagem na formação do psicólogo, que possui oito ocorrências onde se problematiza os currículos das universidades que dão destaque às teorias de personalidade em detrimento dos aspectos da saúde pública. Como exemplo:
Partindo-se da premissa de que o principal modo de atuação aprendido durante a graduação restringe-se, geralmente, a uma abordagem clínica, um dos grandes desafios para a implantação de modelos alternativos de atenção – com base nos princípios da reforma sanitária brasileira – encontra-se nos modelos de formação.28:1388
Além disso, entende-se que os “[…] cursos de graduação desempenham um papel essencial na determinação dos modelos de atuação, que se apresentam extremamente inadequados e limitados à realidade sanitária”37:158. Quanto à formação universitária, Martinez38 aponta para a fragmentação de saberes psicológicos perpetuada tanto pelos professores quanto pelos acadêmicos. Essa fragmentação gera uma disputa, levando muitas vezes a problemas éticos e não favorecendo o diálogo entre as diferentes concepções e saberes do campo. Muitos currículos universitários estão voltados para teorias do desenvolvimento que desconsideram –ou consideram muito pouco – o papel dos contextos sociais na constituição do sujeito.
A ausência de modelos de atuação faz com que, mesmo entendendo que o trabalho na atenção primária deve ir além do atendimento individual, os profissionais não se vejam instrumentalizados pela graduação para um novo modelo de atuação.
O código Falta de conhecimento acerca do trabalho do psicólogo traz três ocorrências que identificam em seu contexto a dificuldade da população e da equipe multidisciplinar em reconhecer as funções do psicólogo. Nesse código, os trechos dos artigos destacam que a ausência de conhecimento acerca do papel do psicólogo gera uma expectativa acerca do atendimento clínico. A seguir um trecho que ilustra o código: “[…] a expectativa que existe em relação ao atendimento clínico pautado no histórico da profissão. Essa falta de clareza em relação à função do psicólogo ainda gera exigências institucionais que limitam a atuação profissional”29:199.
Essa falta de clareza quanto à identidade profissional do psicólogo na atenção primária parte também dos próprios psicólogos que perpetuam um modelo de atendimento clínico hegemônico. Há uma representação social do psicólogo enquanto psicanalista que atinge os profissionais das unidades e também os usuários. É comum que mesmo nestes espaços e orientados pelas diretrizes do SUS, os diretores ou chefes da instituição esperem uma atuação individualizada e com instrumentos tradicionais do psicodiagnóstico/da psicoterapia. Diante de tal desconhecimento, a representação dos leigos quanto ao trabalho do psicólogo está ancorada no psiquiatra ou psicanalista de um lado, ou no padre ou conselheiro espiritual do outro9.
Seguindo a codificação acerca das dificuldades enfrentadas pelo profissional de psicologia na ESF, apresentam-se quatro códigos com uma ocorrência cada, sendo eles: Dificuldade de atuação interdisciplinar, Infraestrutura inadequada, Falta de credibilidade e Não reconhecimento do conhecimento dos usuários. Esses códigos abrangem a perspectiva de que a atuação do psicólogo na ESF é multi e não transdisciplinar e que as únicas práticas reconhecidas pela equipe são as relacionadas ao atendimento clínico. Nesse contexto existe a ideia de que não há salas estruturadas para intervenções, o que novamente direcionaria para o atendimento individualizado.
Quanto ao código Falta de credibilidade, a representação do psicólogo para muitos profissionais e usuários reduz sua intervenção a uma mera conversa que dificilmente é percebida como um trabalho10. O código Não reconhecimento do conhecimento dos usuários abrange trechos que trazem a noção de que o psicólogo parte da premissa de que os usuários partilham de suas crenças e representações, desconsiderando a cultura da comunidade. Entende-se que é preciso partir do conhecimento do usuário acerca do processo saúde-doença para a promoção de sentido. Quanto a isso, Spink4 colabora com a afirmação de que a comunicação é a essência
da prática em saúde. Desse modo, a autora quer dizer que é preciso que o profissional entenda e seja entendido pelo usuário e assim dê sentido às práticas saudáveis na vida dele. Diante disso, percebe-se a urgência em reconsiderar as formas de atuação do psicólogo a fim de pautar seu exercício profissional nas diretrizes norteadoras do SUS. De acordo com tais diretrizes, é preciso considerar os determinantes sociais de saúde para a efetivação das políticas de promoção de saúde. Logo, é preciso considerar o contexto social em que o sujeito está inserido para uma intervenção psicológica eficiente.
No grupo de códigos Aspectos sociais, que conta com seis códigos, encontra-se o código Promoção da saúde, com 26 ocorrências. Esse código também aparece no grupo Função do psicólogo, pois entende-se que a promoção de saúde é também de responsabilidade do psicólogo no serviço da ESF, além de estar intrinsecamente ligada aos determinantes sociais de saúde, o que faz com que o código também caiba ao presente grupo.
O segundo código refere-se às Ações para garantias de direitos, que abrange oito ocorrências. Estão presentes nessa categoria trechos que fazem referência à necessidade de promover ações que contribuam para que os indivíduos se percebam como sujeitos de direitos.
O trecho seguinte exemplifica a categoria: “[…] Defendemos a necessidade do psicólogo reconhecer-se como agente político capaz de contribuir para as construções coletivas de mudanças na realidade das comunidades onde atua, como também contribuir para que os moradores dessas localidades se reconheçam como sujeito de direitos”39:253
Nesse contexto, o psicólogo é caracterizado como aquele que media o acesso às informações que garantam o exercício da cidadania e fomentem a identidade social e política dos atores sociais. Nesse ponto, os direcionamentos políticos devem ser no sentido de estabelecer uma rede de apoio entre a própria comunidade, fortalecendo a participação das pessoas e dos grupos em ações coletivas para a melhoria de suas próprias condições de saúde e bem estar e, assim, sua formação enquanto cidadãos ativos nas decisões sociais24.
O terceiro código aparece também no grupo de códigos Função do psicólogo, sendo este o Diagnóstico psicossocial, contendo quatro ocorrências. Fazem parte dessa categoria trechos que salientam a relevância de metodologias participantes e etnográficas no processo de levantamento de dados de uma comunidade. O diagnóstico psicossocial torna-se uma das principais ferramentas de atuação para a promoção de saúde, visto que
os processos de produção do adoecimento e da saúde estão diretamente ligados ao modo como as pessoas estão inseridas nas organizações sociais. Trata-se de efetivar o princípio da integralidade prezado pelo SUS40
O quarto código deste grupo de códigos se refere ao Protagonismo social, que contém quatro ocorrências abarcando os trechos dos artigos que fazem menção à necessidade de empoderamento dos usuários e à busca pela autonomia na resolução de problemas cotidianos:
[…] É impossível pensar práticas de psicólogos que não estejam imediatamente comprometidas com o mundo, com o país em que vivemos, com as condições de vida da população brasileira, com o engajamento na promoção de saúde que implique a condição de sujeitos autônomos, protagonistas, coparticipes e corresponsáveis pelas suas vidas.41:23
Tomando o que Freire42 problematiza para a educação e aplicando tal conhecimento à área da saúde, entende-se que é a ação do próprio sujeito o instrumento de transformação social, logo, o conhecimento não deve partir de uma estrutura hierárquica preestabelecida que tome os cidadãos como sujeitos que recebem passivamente os conteúdos, mas demanda uma busca de invenção e reinvenção dos próprios usuários. É através do protagonismo desses sujeitos que haverá uma real modificação nos determinantes sociais de saúde.
O quinto e sexto código são Intervenção comunitária e Promoção do suporte social, cada em com respectivamente duas e uma ocorrências. Nestes, são apresentados trechos de artigos que salientam a relevância da atuação do psicólogo no contexto comunitário, favorecendo as relações de pertencimento e a construção de redes de apoio.
Nesse sentido, é preciso levar em conta aspectos que caracterizam a vida dos sujeitos. A intervenção comunitária não deve partir de uma verticalidade onde se estrutura uma relação de poder do psicólogo para com o usuário da ESF. O diálogo deve considerar o meio em que o sujeito está inserido e, assim, levá-lo à compreensão, explicação e transformação do meio. A possibilidade de uma pura substituição de comportamentos é uma falácia, o psicólogo deve compreender a realidade dos sujeitos e instrumentalizá-los para que eles próprios sejam agentes de mudança e, assim, seja possível estabelecer uma rede de apoio entre os próprios usuários42. Para o alcance de tais objetivos, torna-se relevante avaliar o trabalho exercido continuadamente e deve-se procurar um meio de “prestação de contas” das ações executadas e reavaliação das mesmas.
No grupo de códigos Prestação de contas, apresentam-se dois códigos. O código presença traz duas ocorrências afirmando a necessidade do psicólogo de apresentar seus resultados para legitimar sua prática. Enquanto o código Ausência, com uma ocorrência, destaca que o psicólogo não necessita demonstrar seus resultados a outros profissionais. Seguem os trechos ilustrativos:
Na perspectiva da autonomia do trabalho, o psicólogo ocupa uma posição extremamente privilegiada na rede. Ele não precisa reportar-se a outro profissional ou técnico para exercer suas atividades. Seleciona e agenda seus clientes, controla a duração das sessões e a alta do processo psicoterápico.35:84
Em outra perspectiva temos o seguinte trecho: “[…] o encontro com a condição de trabalho assalariado estatal e as vicissitudes que isso acarreta em termos de regulação, horário de trabalho, hierarquias, prestação de contas, avaliação de produtividade, etc”34:395
Quanto ao primeiro trecho trazido por Oliveira35, selecionar os pacientes fere o que é proposto pela Lei nº 8.080, art. 7º, que fala sobre os princípios e diretrizes do SUS, reafirmando a importância da “igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie”3. Além disso, no art. 15, a lei refere-se à articulação de órgãos de fiscalização do exercício profissional para a definição de padrões éticos para os serviços de saúde3. Logo, afirmar que o psicólogo não precisa prestar contas do seu trabalho e que tem o poder de selecionar os pacientes a serem atendidos é um erro que fere as diretrizes apontadas pela Lei 8.080.
Quanto ao segundo trecho que contrapõe a primeira ideia, pode-se entender que a mudança da posição de trabalhador liberal para o trabalho assalariado pode apresentar-se com estranheza para o psicólogo. No entanto, prestar contas acerca de seu trabalho e compreender sua corresponsabilidade pela qualidade do serviço oferecido na ESF é um marco na Política Nacional de Humanização. Há um dever ético e político, no sentindo de cumprir com as diretrizes do SUS, dos profissionais que atuam na área da saúde pública40
Apesar de o psicólogo não fazer parte da equipe mínima da ESF, os estudos apresentados evidenciam os ganhos para a equipe e para os usuários com a presença de profissionais de psicologia neste contexto, estando entre suas atribuições servir como elo mediador entre equipe de ESF e comunidade. Cabe ao psicólogo conhecer a realidade
social do território e a partir da valorização da cultura e heterogeneidade local, desenvolver o diálogo com a comunidade a fim de compreender as subjetividades envolvidas na dinâmica saúde-doença.
No decorrer do desenvolvimento do seu trabalho na ESF, o psicólogo deve estar disposto a manter o diálogo com a equipe multiprofissional e também com outros setores, como associações de moradores, educação, assistência social e segurança pública, a fim de garantir a integralidade no atendimento ao indivíduo. As mudanças que garantirão a promoção de saúde devem partir do seio da comunidade e não de forma hierarquizada do profissional para o usuário.
Ressalta-se a importância da ressignificação da identidade do psicólogo, que em muitos contextos é visto como o profissional que trabalha exclusivamente de forma individual e clínica. Para tal, tornam-se essenciais modificações na atuação deste, que muitas vezes importa o modelo clínico elitista para o serviço público e deixa de considerar as demandas da própria comunidade.
Entende-se que para o exercício da profissão em consonância com as diretrizes do SUS é preciso que o psicólogo esteja em formação continuada de forma a suprir a lacuna deixada pelas grades curriculares dos cursos de psicologia que dão ênfase ao modelo clínico de atendimento. Percebe-se a residência multiprofissional como estratégia de capacitação dos profissionais na atuação em prol da integralidade e desenvolvimento de autonomia dos usuários.
Nota-se ainda a carência de publicações no que diz respeito a relatos de experiência acerca do papel do psicólogo na ESF. A troca de saberes entre profissionais de diferentes territórios, dada através da publicação de artigos científicos, é ferramenta essencial para instrumentalizar a classe de trabalhadores da psicologia.
1. Concepção do projeto, análise e interpretação dos dados: Camila Maffioleti Cavaler, Marieli Mezari e Amanda Castro.
2. Redação do artigo e revisão crítica relevante do conteúdo intelectual: Camila Maffioleti Cavaler, Marieli Mezari e Amanda Castro.
3. Revisão e/ou aprovação final da versão a ser publicada: Jacks Soratto e Graziela Amboni.
4. Ser responsável por todos os aspectos do trabalho na garantia da exatidão e integridade de qualquer parte da obra: Camila Maffioleti Cavaler, Marieli Mezari, Amanda Castro, Jacks Soratto e Graziela Amboni.
1. Organização Mundial da Saúde. Declaração de Alma-Ata [Internet]. Conferência Internacional sobre Cuidados Primários em Saúde. Alma-Ata; 12 set 1978 [citado em 2018 abr 25]. Disponível em: http://bvsms.saude.gov. br/bvs/publicacoes/declaracao_alma_ata.pdf
2. Andrade LOM, Bueno ICHC, Bezerra RC. Atenção Primária à Saúde e Estratégia Saúde da Família. In: Campos GWS, Minayo MCS, Akerman M, Drumond M Jr, Carvalho YM, organizadores. Tratado de saúde coletiva. 2a ed. São Paulo: Hucitec; 2012. p. 783-836.
3. Brasil. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília (DF); 1990 set 19. Seção 1, p. 1.
4. Spink MJP. Psicologia social e saúde: trabalhando com a complexidade. Quad Psicol. 2010;12(1):41-56.
5. Brasil. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde – SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília (DF); 28 jun 2011. Seção 1, p. 1.
6. Rouquayrol MZ. Contribuição da epidemiologia. In: Campos GWS, Minayo MCS, Arkeman M, Drumond Junior M, Carvalho YM, organizadores. Tratado de saúde coletiva. 2a ed. São Paulo (SP): Hucitec; 2012. p. 319-74.
7. Conselho Nacional de Secretários da Saúde. A atenção primária e as redes de atenção à saúde. Brasília (DF); 2015.
8. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 648, de 28 de março de 2006. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília (DF); 28 mar 2006.
9. Spink MJP. Psicologia social e saúde: práticas, saberes e sentidos. Petrópolis (RJ): Vozes; 2003.
10. Costa M. La terapia de conducta em la salud comunitaria. Anu Psicol. 1984;30:111-26.
11. Aguiar SG, Ronzani TM. Psicologia social e saúde coletiva: reconstruindo identidades. Psicol Pesqui. 2007;1(2):11-22.
12. Brasil. Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005. Institui o Programa Nacional de Inclusão de Jovens – ProJovem. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília (DF); 24 abr 2002. Seção 1, p. 1.
13. Brasil. Ministério da Educação. Ministério da Saúde. Portaria interministerial nº 1.077, de 12 de novembro de 2009. Dispõe sobre a Residência Multiprofissional em Saúde e a Residência em Área Profissional da Saúde, e institui o Programa Nacional de Bolsas para Residências Multiprofissionais e em Área Profissional da Saúde e a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília (DF); 12 nov 2018. Seção 1, p. 7.
14. Universidade do Extremo Sul Catarinense. O programa [Internet]. Criciúma (SC); 2018 [citado em 2020 ago 27]. Disponível em: http://www.unesc.net/ portal/capa/index/344/6414/
15. Costa ACS, Azevedo CC. A integração ensino-serviço e a residência multiprofissional em saúde: um relato de experiência numa unidade básica. Tempus – Actas Saúde Colet. 2016;10(4):265-82.
16. Conselho Federal de Psicologia. Como a psicologia pode contribuir para o avanço do SUS: orientação para gestores. 2a ed. Brasília (DF); 2013.
17. Calatayud FM. Introducción a la psicología de la salud. Buenos Aires: Paido Iberica; 1999.
18. Flick U. Introdução à pesquisa qualitativa 3. Porto Alegre (RS): Artmed; 2008.
19. Justicia JM. Análisis cualitativo de datos textuales con ATLAS.ti 5. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona; 2005.
20. Bardin L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70; 2011.
21. Jimenez L. Psicologia na atenção básica à saúde: demanda, território e integralidade. Psicol Soc. 2011;23:129-39.
22. Prates LG, Nunes LP. A (re)construção do lugar do psicólogo na saúde pública: das quatro paredes do centro de saúde para os lares. Pesqui Prát Psicossociais. 2009;4(1):96-101.
23. Matos MG. Psicologia da saúde, saúde pública e saúde internacional. Anál Psicol. 2004;22(3):449-62.
24. Buss PM, Pelegrini Filho A. A saúde e seus determinantes sociais. Phisys. 2007;17(1):77-93.
25. Cezar PK, Rodrigues PM, Arpini DM. A psicologia na estratégia de saúde da família: vivências da residência multiprofissional. Psicol Ciênc Prof. 2015;1(35):211-24.
26. Costa Neto MM, organizador. A implantação da unidade de saúde da família. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2000.
27. Luz MT. Especificidade da contribuição dos saberes e práticas das ciências sociais e humanas para a saúde. Saúde Soc. 2011;20(1):22-31.
28. Costa DFC, Olivo VMF. Novos sentidos para a atuação do psicólogo no Programa Saúde da Família. Ciênc Saúde Colet. 2009;14(1):1385-94.
29. Poupel PF. Psicologia na saúde pública. Ecos. 2014;4(2):193-200.
30. Rozemberg B. Comunicação e participação em saúde. In: Campos GWS, Minayo MCS, Arkeman M, Drumond M Jr, Carvalho YM, organizadores. Tratado de saúde coletiva. 2a ed. São Paulo (SP): Hucitec; 2012. p. 741-66.
31. Lima EMFA, Yasui S. Territórios e sentidos: espaço, cultura, subjetividade e cuidado na atenção psicossocial. Saúde Debate. 2014;38(102):593-606.
32. Ceccim RB, Feuerwerker LCM. O quadrilátero da formação para a área da saúde: ensino, gestão, atenção e controle social. Physis. 2004;14(1):41-65.
33. Souza ALM, Garbinato LR, Martins RPS. A atuação do psicólogo no sistema único de saúde: uma revisão. Interbio. 2012;6(1):54-66.
34. Ferreira Neto JL. A atuação do psicólogo no SUS: análise de alguns impasses. Psicol Ciênc Prof. 2010;30(2):390-403.
35. Oliveira IF, Dantas CMB, Costa ALF, Silva FL, Alverga AR, Carvalho DB, et al. O psicólogo nas unidades básicas de saúde: formação acadêmica e prática profissional. Interações. 2004;9(17):71-89.
36. Yamamoto OH. Questão social e políticas públicas: revendo o compromisso da psicologia. In: Bock AMB, organizadora. Psicologia e compromisso social.
2a ed. São Paulo (SP): Cortez; 2009. p. 37-54.
37. Pires ACT, Braga TMS. O psicólogo na saúde pública: formação e inserção profissional. Temas Psicol. 2009;17(1):151-62.
38. Martinez AM. Psicologia e compromisso social: desafio para a formação do psicólogo. In: Bock AMB, organizadora. Psicologia e compromisso social.
2a ed. São Paulo (SP): Cortez; 2009. p. 143-62.
39. Silva RB, Carvalhaes FF. Psicologia e políticas públicas: impasses e reinvenções. Psicol Soc. 2016;28(2):271-56.
40. Silva FR, Pinheiro R, Machado RO, Durans PHS. Saúde, trabalho e integralidade no âmbito do SUS: cartografia e apoio institucional. In: Guanaes-Lorenzi C, Motta CCL, Borges LM, Zurba MC, Vecchia MD, organizadores. Psicologia social e saúde: da dimensão cultural à político-institucional. Florianópolis (SC): Abrapso; 2015. p. 424-39.
41. Benevides R. A psicologia e o sistema único de saúde: quais interfaces? Psicol Soc. 2005;17(2):21-5.
42. Freire P. Extensão ou comunicação? 7a ed. Rio de Janeiro (RJ): Paz e Terra; 1983.
Recebido: 22.11.2018. Aprovado: 24.6.2020.
Iramara Lima Ribeiroa
Mário Sérgio Gomes Filgueirab
Irislândia Lima Ribeiroc
José Guilherme da Silva Santa Rosad
Iris do Céu Clara Costae
Resumo
Avaliar a percepção de alimentação saudável por escolares entre 7 e 10 anos de idade a partir de um serious game de promoção da saúde. Desenvolveu-se uma pesquisa-ação de abordagem qualitativa, tendo como referencial a percepção de Merleau-Ponty, mediante grupos focais com 31 escolares e com 7 profissionais da área da educação a respeito da compreensão sobre a alimentação das crianças e interesses para com o jogo. Houve ainda entrevistas individuais com outros 37 escolares pós-teste do jogo. Os materiais resultantes foram analisados a partir do software Alceste e sob a luz da fenomenologia da percepção de Merleau-Ponty. Identificou-se boa aceitação da merenda escolar, com rejeição de algumas preparações, em concomitância com o consumo de alimentos industrializados. Na construção do jogo, foi sugerido um sistema de recompensas pelas escolhas saudáveis. A percepção das crianças sobre alimentação saudável esteve relacionada ao consumo de alimentos in natura, sobretudo frutas, estabelecendo um elo entre o jogo e suas vivências pessoais. A compreensão sobre alimentação a partir do jogo revelou-se propulsora de dotar as crianças de saberes para que façam as suas escolhas alimentares.
Palavras-chave: Promoção da saúde. Educação alimentar e nutricional. Criança. Jogo.
a Nutricionista-sanitarista. Doutora em Saúde Coletiva. Sanitarista da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. E-mail: iramara@ccs.ufrn.br
b Designer. Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. E-mail: mariodesigner@live.com
c Assistente social. Especialista em Saúde Coletiva. Assistente social do Hospital Giselda Trigueiro. Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. E-mail: irislandiamenezes@hotmail.com
d Analista de sistemas. Doutor em Educação em Ciências da Saúde. Docente da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. E-mail: jguilhermesantarosa@gmail.com
e Odontóloga. Doutora em Odontologia Preventiva e Social. Docente da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. E-mail: irisdoceu.ufrn@gmail.com
Endereço para correspondência: Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Campus Universitário Central, Departamento de Saúde Coletiva. Av. Senador Salgado Filho, n. 3.000, Lagoa Nova. Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. CEP: 59078-970. E-mail: dcs@ccs.ufrn.br
Abstract
We evaluated the perception of healthy eating by schoolchildren between seven and ten years by a serious game for health promotion. An action research with a qualitative approach was developed by means of focus groups with 31 schoolchildren and seven educators about the understanding regarding children’s feeding habits and their interests towards the game. Others 37 children were interviewed individually in a post-test. The resulting materials were analyzed with use of the application software Alceste and in light of Merleau-Ponty’s phenomenology of perception. Good acceptance of school meals was found, alongside rejection of some preparations and the consumption of industrialized foods. During the construction of the game, a system of rewards for healthy choices was suggested. The children’s perception about healthy eating was related to the consumption of fresh foods, mainly fruits, relating the game and their lives. Learning about feeding habits with the game gave children the knowledge to make their own food choices.
Keywords: Health promotion. Food and nutrition education. Child. Game.
SERIOUS GAME EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA ESCOLARES:
UNA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA
Evaluar la percepción de alimentación sana por escolares entre 7 y 10 años de edad a partir de un serious game de promoción de la salud. Se desarrolló una investigaciónacción de abordaje cualitativo, basándose en el referencial teórico de Merleau-Ponty, en la cual participó grupos focales con 31 escolares y con 7 profesionales del área de la educación acerca de la comprensión sobre la alimentación de los niños e intereses en el juego. También se realizó entrevistas individuales con otros 37 escolares en un postest del juego. Los materiales resultantes se analizaron por medio del software Alceste y bajo la luz de la fenomenología de la percepción de Merleau-Ponty. Se identificó buena aceptación de la merienda escolar, con rechazo de algunas preparaciones, en concomitancia con el consumo de alimentos industrializados. En la construcción del juego se sugirió un sistema de recompensas por las elecciones sanas. La percepción de los niños sobre alimentación sana estuvo relacionada al consumo de alimentos in natura, sobre todo
frutas, estableciendo una relación entre el juego y sus vivencias personales. La comprensión sobre la alimentación a partir del juego se ha revelado propulsora al dotar de saberes a los niños para que hagan sus elecciones alimenticias.
Palabras clave: Promoción de la salud. Educación alimentaria y nutricional. Niño. Juego.
Um dos principais problemas de saúde pública da atualidade é a obesidade infantil1, que apresenta como um fator modificável o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados2 que impactam nos hábitos alimentares.
Tal quadro se observa no cenário brasileiro com uma das maiores prevalências do mundo de excesso de peso em crianças, ao mesmo tempo que persistem as deficiências nutricionais3. Para enfrentar essa situação, são necessárias ações nas escolas e comunidades, além de transformações no setor da agricultura, fabricação de alimentos, educação, transporte e planejamento urbano, focalizados em estratégias que visem melhorar a dieta e a atividade física4. E, ainda, políticas públicas que fomentem o consumo de alimentos saudáveis5. Porém, estas normalmente são realizadas em caráter normativo, sem estimular a mudança de comportamento voluntária6, o que dificulta a adesão.
Os serious games (SG) caracterizam-se como jogos eletrônicos com finalidade pedagógica de importância para a saúde pública, dado seus efeitos promissores por atrelar diversão e educação, podendo prevenir uma grande variedade de doenças, além de superar as barreiras motivacionais que os programas de promoção da saúde frequentemente encontram7,8, despertando o interesse de crianças9, haja vista que as novas gerações já nascem e convivem em um mundo cercado de tecnologias digitais, adaptando-se melhor às estratégias de ensino que fogem da didática tradicional10
Considerando os aspectos elencados, justifica-se este trabalho, que partiu do pressuposto de que um SG é capaz de auxiliar na promoção da saúde de escolares, diferenciando-se de metodologias conservadoras da educação em saúde na medida em que se aproxima de ferramentas tecnológicas de caráter lúdico, amigáveis ao público infantil. Assim, este estudo objetivou avaliar a percepção de alimentação saudável por escolares de sete a dez anos de idade a partir de um SG de promoção da saúde.
O estudo, decorrente de uma tese de doutorado, adotou a abordagem qualitativa porque visou estudar o fenômeno em si, procurando compreender a subjetividade implicada no ato de a criança se perceber diante de um jogo eletrônico. Caracterizou-se como pesquisa-ação que formula estratégias envolvendo o público-alvo da prática pesquisada, mediante reflexão e ação, a fim de conduzir a uma mudança social na perspectiva educacional, envolvendo como etapas o esclarecimento e o diagnóstico de uma situação-problema, seguidos da formulação de estratégias de ação que são postas em prática e avaliadas, cujos resultados oferecem uma nova elucidação e diagnóstico que conduzem a uma nova reflexão e ação, num modelo de espiral de ciclos em que se volta ao início de uma forma diferenciada para aperfeiçoar o desenvolvido11.
Partiu-se da problemática da escassez de instrumentos de caráter lúdico para se trabalhar a educação alimentar e nutricional com crianças em idade escolar, adotando a estratégia da formulação de um SG
Saliente-se que a intenção desta pesquisa não foi a de aprimorar práticas educativas realizadas na escola, e sim práticas no âmbito da educação em saúde, a partir de um SG que pode ser transportado para qualquer lugar desejado por meio de um aparelho eletrônico.
No desenvolvimento da pesquisa, entre 2014 e 2016, foram analisados os conteúdos de entrevistas em grupos focais realizadas com profissionais e estudantes (fora do horário de aula das crianças) em salas de aula, as quais foram encerradas pela saturação das falas, ou seja, quando o discurso se tornava repetitivo pelos sujeitos e não acrescentava nada mais ao objeto de estudo. Cada sujeito da pesquisa recebeu uma numeração, de modo a se preservar as suas identidades. O material textual foi organizado em corpora separados, a saber:
ETAPA 1
Corpus 1: grupo focal com profissionais orientados a pensar sobre como observavam a alimentação dos escolares (merendeira [profissional que prepara a merenda escolar], professora de informática, educador físico, pedagoga, coordenadora pedagógica e nutricionista – 6 participantes, duração de 62 minutos);
Corpus 2: grupo focal com profissionais orientados a pensar sobre como vislumbravam o jogo para escolares (mesmos profissionais do corpus 1, acrescidos de professora polivalente – 7 participantes, duração de 42 minutos);
Corpus 3: grupos focais com escolares subdivididos em quatro grupos orientados a pensar sobre como enxergavam seus comportamentos alimentares (29 participantes, duração de 69 minutos) e um jogo de educação alimentar (31 participantes, duração de 166 minutos).
Corpus 4: entrevistas abertas individuais com escolares (37 crianças), excluídos os que participaram dos grupos focais, tendo-se a seguinte questão norteadora: “O que você aprendeu sobre alimentos com o jogo?”. A entrevista ocorria após a criança entrar em contato com o jogo a partir de um tablet, solicitando-se que ela acessasse no menu o ícone de categorias de alimentos, lendo informações sobre as mesmas, e que, a seguir, jogasse livremente. A construção do jogo está mais bem detalhada neste artigo no tópico resultados.
A escola foi escolhida por conveniência dos pesquisadores, assim como a amostra dos sujeitos, a partir de indicações da Secretaria Municipal de Educação, estando localizada na zona oeste da cidade, sendo priorizada por possuir, na época, o maior Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, ao mesmo tempo que recebia alunos de diferentes bairros, com classes socioeconômicas menos favorecidas, procurando-se valorizar o princípio da equidade do Sistema Único de Saúde (SUS) ao contemplar com ações de promoção de saúde as populações com menor acesso aos serviços.
Os critérios de seleção para as crianças foram: ser alfabetizadas e estar na faixa etária de sete a dez anos, além de possuir habilidade com jogos eletrônicos. Já para os profissionais, o critério era possuir experiência com escolares na faixa de idade preconizada pelo estudo. Na etapa 2, foi adicionada, para as crianças, a exigência de saber jogar com tablet ou aparelho eletrônico com função similar, tal como smartphone, ficando excluídas as crianças que participaram da etapa 1. Cabe salientar que, entre essas etapas, existiu a elaboração do jogo, com teste do protótipo em papel junto aos escolares da etapa 1.
As falas gravadas e transcritas constituíram-se do instrumento de coleta de dados e foram analisadas tomando como base teórica a fenomenologia da percepção, segundo Merleau-Ponty12, que a considera como a “interpretação” de signos mediante estímulos corporais, expressa facultativamente a partir do juízo sobre o percebido e cuja função essencial é inaugurar o conhecimento.
Cada corpus foi processado no software Alceste 4.9, que fornece uma classificação hierárquica descendente do texto, repartindo-o em classes que agrupam raízes de palavras mais significativas para os entrevistados, identificadas com um sinal positivo (e.g.: alimentos e alimentação seriam agrupados como aliment+). O texto é ainda fragmentado em unidades de contexto elementar (u.c.e) nas quais são apresentados trechos das entrevistas, significativos para o grupo13.
É importante mencionar que os conteúdos dos corpora 1 a 3 serviram para embasar a construção do SG denominado Ran-gO®, com enredo baseado nas recomendações do Guia alimentar para a população brasileira14
Todas as fases do estudo levaram em conta a Resolução brasileira nº 466/2012. Após a anuência da Secretaria Municipal de Educação, o projeto foi submetido a um Comitê de Ética em Pesquisa e aprovado sob o parecer consubstanciado nº 1.202.770/2014. Participaram do estudo apenas aqueles que assinaram os termos. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), além dos Termos para Gravação de Voz e Termo de Uso de Imagem, foi assinado pelos responsáveis pelas crianças e pelos profissionais. As crianças assinaram um Termo de Assentimento após consentimento dos responsáveis.
Em relação ao perfil dos profissionais (encontros em agosto de 2014), uma possuía ensino básico incompleto (merendeira); cinco tinham pós-graduação lato sensu (professora polivalente, professora de informática, educador físico, pedagoga e nutricionista); e uma, pós-graduação stricto sensu em nível de mestrado (coordenadora pedagógica).
Sobre as crianças que participaram dos grupos focais prévios à construção do jogo (setembro de 2014), a média de idade foi de 8,9 anos.
Adiante estão descritos os resultados das análises dos grupos focais.
Conforme ilustrado no Quadro 1, o corpus 1 repartiu-se em quatro classes de palavras. A classe 1 revela as crianças trazendo para a escola alimentos industrializados (pipoca+, recheado) provenientes de casa ou comprados na rua.
Quadro 1 – Classes de palavras identificadas pelo Alceste para os grupos focais.
Natal, Rio Grande do Norte – 2014
Corpus 1 – Profissionais (aproveitamento textual de 100% – 208 u.c.e)
1 (25,48%: hora, pipoca+, trouxe, recheado, gost+, fruta+, lanch+): alimentos trazidos pelas crianças para a escola
2 (14,90%: jogos, educação física, física, esporte, brincadeira, particular, aula): atividade física e uso de tecnologias
3 (24,04%: merend+, quest+, famil+, casa+, escol+, acredito, hábito+): a merenda escolar e a influência da família sobre os hábitos alimentares
4 (35,58%: coloc+, informac+, forma+, pratic+, prepar+, momento, trabalh+): o papel do professor nas práticas de educação em saúde
Corpus 2 – Profissionais (aproveitamento textual de 85% – 142 u.c.e)
1 (15,70%: mud+, cois+, fase+, pens+, entr+, cenário): composição do jogo por fases ou níveis em cenários variados
2 (26,45%: cardápio, mont+,aprend+, aliment+, atividade física, alimentos): opção de montar cardápio no jogo e inclusão de atividade física e hábitos de higiene
3 (39,67%: nível, quinto ano, palavr+, aluno+, alfabetização, gostam muito, quarto): níveis de motricidade e leitura diferenciados
4 (18,18%: supermercado, fal+, cas+, forma+, ela): proposição de cenários reais
Corpus 3 – Escolares (aproveitamento textual de 89% – 201 u.c.e)
1 (41,79%: não saudáveis, ganh+, gord+, peg+, moed+, etapa+, doente, aliment+): escolha de alimentos saudáveis, contendo recompensas
2 (27,36%: bat+,vinh+, cidade+, doce+, menin+, queimad+, fase+): ludicidade e fases no jogo
3 (30,85%: arroz+, feij+, carne+, verdura, gost+, biscoito, leite+, cuscuz, pipoca+, banana): consumo alimentar e suas justificativas
Fonte: Elaboração própria.
De modo geral, os profissionais relataram que os estudantes possuíam boa aceitação das preparações culinárias servidas na escola (merend+, escol+: classe 3), assim como de frutas (classe 1). Apesar disso, alguns consumiam concomitante aos alimentos industrializados.
Outra problemática relatada foi a aquisição de guloseimas provenientes de vendedor ambulante no portão externo à escola. Ademais, os entrevistados enxergavam como importantes os hábitos domésticos das crianças (famil+, casa+, hábito+), ressaltando que alguns pais ofertavam dinheiro para elas comprarem alimentos industrializados.
Houve ainda destaque para o papel dos professores na formação dos alunos com materiais didáticos, incluindo a temática de saúde, relatando-se a dificuldade em se trabalhar com a prática alimentar de modo continuado a fim de promover uma reprodutibilidade extraescolar do aprendido (classe 4).
Existia ainda a preocupação com a massificação do uso de smartphones na escola. Porém, foi explanado que as novas tecnologias são um caminho sem volta, que devem se agregar à educação (classe 2). Na hora do intervalo, as crianças preferiam jogos tradicionais e brincadeiras.
Relativo ao corpus 2 sobre o jogo eletrônico e repartido em quatro classes, no Quadro 1 é possível apontar os entrevistados indicando que o jogador deveria alimentar uma personagem, mediante montagem de cardápio, ou correr em busca de alimentos saudáveis em fases ou níveis (classes 1 e 2), considerando os diferentes níveis de motricidade e leitura das crianças, o que pode ser visto a seguir na fala da coordenadora pedagógica (classe 3).
“Apesar de passarem por uma pré-escola, a maioria chega aqui sem conhecer as letrinhas, sem escrever o nome, completar palavrinhas.” (Coordenadora pedagógica).
Uma solicitação dos profissionais foi a presença de cenários variados para que as crianças não se entediassem, remetendo à vida real (classe 4). Ademais, foi sinalizada a necessidade de um sistema de recompensa, indicando sucesso ou perda de pontos, além da inclusão de atividade física e hábitos de higiene.
O terceiro corpus analisado foi subdivido pelo Alceste em três classes de palavras. A classe 3 (Quadro 1) esteve relacionada ao pensamento das crianças sobre alimentação saudável (alimentação boa, independentemente de ser gostosa), aos seus hábitos e aos dos colegas da escola. Foi identificada a preservação do consumo de alimentos da cultura brasileira como arroz e feijão junto a alimentos industrializados, a exemplo do biscoito recheado e da pipoca industrializada, que surgem como palavras significativas. Pais, escola e mídia influenciavam nas escolhas alimentares.
De modo geral, foi relatada boa adesão à merenda escolar. Porém, havia rejeição às preparações que destoavam da cultura das crianças, e.g., mistura de cuscuz, ovos, leite e banana. Existia, ainda, a visão de a merenda escolar ser saudável na maioria das vezes, apresentando também alimentos não saudáveis (iogurte por conter conservantes, achocolatado, pão e biscoito).
Além disso, na medida em que alguns escolares mencionavam não gostar de verduras e nenhum escolar relatar gostar, ficou deduzida a baixa adesão às verduras na dieta.
Na classe 1 desse corpus, as crianças propõem um jogo para alimentar uma personagem em fases ou níveis (classe 2), superando obstáculos (doenças, sobrepeso/obesidade) ou desviando de alimentos variados.
De forma semelhante aos profissionais, as crianças sinalizaram para que os cenários variassem, imitando a vida real, podendo ainda ter caráter lúdico (cidade+, doce+).
Elas também sugeriram a presença de sistema de recompensas e a inclusão de atividade física e hábitos de higiene.
Algumas crianças solicitaram limitar o uso de textos durante o jogo, ratificando as falas dos profissionais a respeito de possuírem níveis de leitura diferenciados.
A partir da análise das entrevistas, foram traçadas estratégias de ação, focalizadas no desenvolvimento e na avaliação do jogo, com etapas presentes na Figura 1.
Foram realizadas reuniões sistemáticas para a criação do roteiro e de um protótipo em papel, testados em maio de 2015 pelas crianças, que sugeriram acrescentar o personagem pai no enredo. Foram identificadas, ainda, dificuldades no que tange a acessar menus na tela inicial.
Na etapa 3 (Figura 1), houve readaptação nos pontos elencados. Depois, seguiuse a construção do jogo, concebendo-se o nome Ran-gO® por remeter à palavra alimentação no Brasil. Optou-se pelo desenvolvimento para o sistema operacional Android, correntemente utilizado pela população brasileira (etapa 4).
É importante salientar que o Ran-gO® buscou romper o paradigma do foco no nutriente. Não foram mencionados valores calóricos ou nutrientes. As informações sobre categorias de alimentos e qual tipo de consumo deve ser priorizado estão apenas no início do jogo. No decorrer do jogo, a criança é livre para fazer as escolhas alimentares, pontuando mais ou menos a depender destas.
No intervalo das refeições, há minigames de escovação bucal, basquete e tica-tica (brincadeira na qual uma criança corre atrás de várias ouras com a função de ticar/tocar em alguma e as demais correm para não serem pegas, caso contrário, se tornarão o próximo “ticador”), possibilitando focalizar na atividade física e em hábitos de higiene.
A Figura 2 mostra o fluxo de telas a partir da escolha da personagem menina (optando pelo menino, modifica-se apenas o cenário do quarto).
O jogador conduz a personagem para um corredor, contendo duas portas, uma para o banheiro com um minigame de escovação bucal (uso de escova e creme dental para higienizar uma boca contendo germes), e outra para a cozinha, que só se destrava após o jogador percorrer a primeira.
A seleção de alimentos busca incentivar a escolha dos in natura e minimamente processados, a fim de vencer uma partida final de jogo de bandeirinha. Em caso da seleção de alimentos processados, o ganho de pontos é menor, estimulando a compreensão da necessidade de mesclar o consumo com os in natura. Já a seleção de alimentos ultraprocessados culmina na perda de pontos, inviabilizando a vitória quando feita prioritariamente.
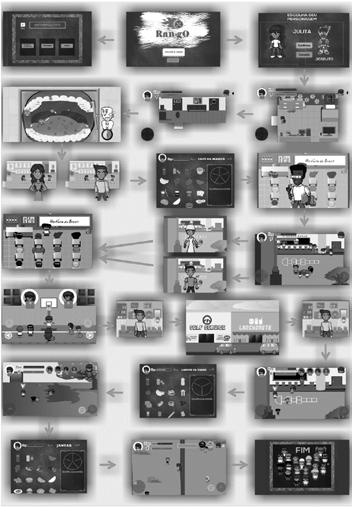
No mês de novembro de 2016, 37 outros escolares foram convidados a testar o Ran-gO®. A média de idade em anos foi de 8,0 ± 1,06 DP, e o sexo predominante foi o feminino (51,4%).
O corpus processado pelo Alceste era composto por quatro classes (Quadro 2).
Quadro 2 – Classes de palavras identificadas pelo Alceste para as entrevistas individuais. Natal, Rio Grande do Norte – 2016
Corpus 4 – Escolares (aproveitamento textual de 71% – 138 u.c.e)
1 (13,27%: men+, não consegui+, peg+, perdi+, ganh+): perdas e ganhos no jogo
2 (13,27%: laranja, abacaxi, banana, uva, objetivo): objetivo do jogo
3 (10,20%: arroz, feij+, salada+, verdura+, escolhi): alimentos escolhidos
4 (63,27%: aprendi, pod+, não pod+, açúcar, dente+): aprendizados a partir do jogo
Fonte: Elaboração própria.
Na classe 2, o objetivo do jogo foi compreendido como alimentação saudável, mediante a seleção, sobretudo de frutas, embora outros alimentos também fossem citados na classe 3.
O fato de boa parte mencionar as frutas leva à dedução de uma percepção além do conteúdo do SG, perpassando por impressões pessoais e conhecimentos prévios. Vê-se ainda que os escolares estabeleciam uma interlocução do jogo com suas práticas de vida:
“Quando eu estava em casa, eu achava que não ia servir de nada, mas serviu sobre minha saúde, ser importante comer direito alimentos saudáveis como maçã, banana, essas coisas.” (Escolar 13, menino, 7 anos de idade).
A maioria das crianças relatava que o conteúdo do jogo estava relacionado aos seus cotidianos e direcionado para a promoção de práticas alimentares saudáveis, evidenciado na classe 3:
“Você tem que se alimentar bem e tem comidas que vão te ajudar no esporte e outras que irão nos prejudicar, as que ajudam são mais frutas, sucos de frutas e feijão.” (Escolar 12, menino, 10 anos de idade).
Na classe 1, foi observado que, a despeito de terem atingido uma boa pontuação, algumas crianças não conseguiam vencer a partida final em decorrência de não utilizarem os botões do jogo numa velocidade ideal para desviar rapidamente dos adversários e pegar a bandeirinha da equipe oponente.
Apesar disso, a maioria estabelecia elo entre partida de bandeirinha e alimentação, a exemplo do que traz a próxima u.c.e.
“Eu fui tentar pegar a bandeirinha, mas não consegui […] porque os meninos comeram mais frutas, o irmão da menina disse que eles ganharam porque comeram fruta e fruta é muito importante.” (Escolar 3, menina, 10 anos de idade).
É interessante ressaltar que esta escolar remete a uma fala existente no fim do jogo, na qual o personagem pai relata que, independentemente de vencer a partida final, o importante é competir, não mencionando frutas, o que confirma os achados na classe 2. A classe 4, de maior percentual, traz a compreensão do aprendizado pelo jogo, a partir de visões dicotômicas do que pode e do que não pode (pod+, não pod+) ser consumido. Sobressaíram também as formas açúcar e dente+, relacionadas ao minigame de escovação bucal:
“[…] aí a pessoa fica com cárie [se não escovar os dentes], fica com o dente bastante amarelo e também fica doendo […]. Eu li dizendo que não podia tomar muito sal, não podia tomar muito açúcar porque a pessoa fica diabético.”
(Escolar 21, menino, 8 anos de idade).
Sobre a u.c.e anterior, o escolar relatou o que foi lido nas categorias de alimentos. Porém, não existia conteúdo relativo a doenças. Assim, é possível verificar uma associação entre os conhecimentos prévios com o conteúdo do jogo.
As crianças também relacionaram alimentação com ficar forte, visto que a seleção de alimentos culminava no preenchimento de uma barra de energia que, quanto mais cheia, tornava a personagem mais veloz.
Na identificação sobre os comportamentos alimentares dos escolares, ficou evidenciado o consumo de alimentos industrializados. Apesar disso, existia boa aceitação da merenda, que é de suma importância, pois a alimentação escolar estimula a adoção de hábitos alimentares saudáveis15. Já a oferta de alimentos na merenda fora do contexto tende à rejeição16, como constatado neste estudo para determinadas preparações culinárias.
Relativo à problemática da venda de alimentos industrializados no portão da escola, esta pode prejudicar o consumo de frutas e verduras na infância, o qual geralmente fica abaixo das recomendações17.
Considerando que as crianças espelham-se na conduta dos adultos, sobretudo pais e professores, a educação alimentar deve ser debatida tanto na família quanto na escola18, carecendo também de interlocução entre professores do ensino básico brasileiro e profissionais da área da saúde.
Assim, na mudança de comportamento, é preciso envolver a criança, o que requer modificar os cenários políticos e nutricionais, focalizando no consumo de alimentos saudáveis e ainda no controle dac omercialização de alimentos industrializados. Isso requer diálogo entre os diversos setores atuantes na área de alimentação porque envolve a economia do país19.
De maneira positiva, a análise revelou raízes de palavras referentes aos feijões e arrozes, cuja ingestão concomitante é classicamente relatada na literatura como padrão da alimentação tradicional brasileira20, sendo uma boa opção em termos nutricionais21
Foi vista como negativa a presença de alimentos julgados não saudáveis na merenda escolar, semelhante a um estudo com escolares identificando preparações muito gordurosas e ausência de frutas, legumes e verduras22.
Apesar de as crianças citarem a escolha de diversificados alimentos durante o jogo, as frutas tiveram destaque em nosso estudo. De modo análogo, outra pesquisa encontrou crianças citando que alimentos saudáveis são frutas23. Na pesquisa de Parra Navarro24, que desenvolveu um jogo eletrônico, os principais alimentos julgados saudáveis por crianças foram frutas, sucos de frutas e salada.
Em nosso estudo, ao identificarem como objetivo do jogo a alimentação saudável, as crianças já apresentavam concepções, numa dedução de que, ao selecionarem alimentos como frutas, tal objetivo seria alcançado.
Considerando os alimentos selecionados enquanto objetos, suas existências estavam condicionadas a suscitar pensamentos e vontades no público-alvo deste estudo, evocando situações a partir de recordações, numa perspectiva temporal em que, ao vivenciar
o tempo no presente, se fez necessária a presença de todos os outros tempos do sujeito12, levando-o à dedução de que, ao selecionar alimentos que fizessem bem para a saúde no seu modo de viver/sentir o mundo, o objetivo seria alcançado.
Assim, por envolver sensações, o jogo deve ser compreendido a partir da percepção, tida para Merleau-Ponty12 como uma interpretação de signos fornecidos pela sensibilidade, mediante estímulos corporais que estão além do que a retina nos oferece (o ver), envolvendo também o ouvir e o sentir.
No aspecto saúde oral, significativo na análise a partir do minigame de escovação bucal, é importante salientar que ações de educação em escovação bucal são necessárias no Brasil, visto que o acesso ao dentista ainda é difícil. Assim, os softwares podem auxiliar na prevenção de doenças periodontais e na área da odontologia, enquanto os SG são capazes de motivar os usuários e estimular o aprendizado25
Outra questão identificada em nossa pesquisa foi a ideia de “comer para ficar forte”. Para além da barra de energia presente no jogo, é preciso considerar que, na infância, há também o incentivo, por parte de pais e professores, para que a criança ingira determinados alimentos e, assim, fique forte26.
Já o aspecto pode/não pode está atrelado à criança projetar para si a responsabilidade para com sua saúde, como no estudo de Moreira e Dupas27, no qual crianças relevavam a saúde como dependente de seus atos. A criança se alimenta não apenas pela fome, mas pelo que o seu grupo social determina. Atualmente, há consumo excessivo, ao mesmo tempo que restrições são postas por pressão social, modismo pela magreza ou indisponibilidade econômica28.
Considera-se ainda que o objetivo final de um SG seja a mudança na perspectiva do usuário, a fim de produzir novas atitudes29. Desse modo, não há fórmula mágica para se garantir o aprendizado a partir dos SG, mas isso pode ser alcançado quando os seus objetivos estão claros e existe motivação para jogar30
Desse modo, quando a criança tenta explicar a razão da escolha de determinados alimentos, não há uma descoberta porque, segundo Merleau-Ponty12, a explicação é uma interpretação provável, isto é, inventada pelo sujeito. Para a consciência existir, um objeto intencional deve significar para tal sujeito. Ela é, portanto, inerente ao sujeito e expressa somente por materiais linguísticos, perceptivos e motores de modo simbólico. A criança só se utiliza da motricidade para tocar nas telas do jogo porque ali identifica objetos que existem para ela, ou seja, os elementos postos no jogo (os alimentos, as personagens e as demais ilustrações) já possuíam sentido.
Então, o que estamos a dizer? Que o Ran-gO® não gerou nada nas crianças?
Ao contrário. Quando os escolares mencionavam ter escolhido uma boa alimentação ou os alimentos certos, remetendo aos valores que possuíam, mas também resgatando as categorias de alimentos pela priorização dos alimentos in natura ou minimamente processados, a motricidade posta no jogo servia para abrir espaço ao sentido e, por conseguinte, libertar o corpo, permitindo um abrir-se em si para gerar pensamento e percepção, manifestos pelas falas das crianças. Tais falas se utilizam de palavras já usadas pelo indivíduo, incorporando-as ao presente para soldá-lo a um futuro, isto é, permanecendo em todos os tempos do sujeito, abrindo novas paisagens ao pensamento12. Então, se vejo algo no jogo, esse ato de ver por si só me possibilita resgatar conhecimentos prévios e transformar o que eu já pensava saber, mediante o novo que se mostra ali, ainda que esteja no campo virtual.
E quanto à formação do hábito, teria o Ran-gO® atingido esse nível? Para Merleau-Ponty12, o hábito apenas se forma quando ele mesmo se deixa penetrar por uma significação nova, assimilando um novo núcleo significativo. Ora, se a percepção exterior forma uma unidade com a percepção do corpo, variando conjuntamente em um mesmo ato, e o saber se instala nos horizontes abertos pela percepção, é possível retomar as experiências anteriores nas experiências ulteriores, estabelecendo-se um novo presente no qual se conserva a percepção, gerando um sentido no porvir o qual não está totalmente constituído, porque a síntese realizada em um dado tempo pode recomeçar. Então, os hábitos alimentares são reconstruídos cotidianamente, e o Ran-gO® pode suscitar esse processo.
A compreensão sobre alimentação a partir do jogo revelou-se propulsora de as crianças serem dotadas de saberes para fazer as suas escolhas. A criança, ao refletir sobre a necessidade de melhorar seus hábitos alimentares, deixa de viver a sua visão, desfazendo o elo desta com o mundo, como dizia Merleau-Ponty12, para unir as particularidades de seus mundos separados, comunicados entre si por meio de um núcleo significativo, formando outras percepções.
Apesar de o desenvolvimento do estudo ter se limitado a um grupo específico, ficou demonstrado que um SG pode instigar uma nova percepção sobre alimentação, fazendo refletir a respeito do que a sociedade oferece como opções, na medida em que a criança torna-se sensível ao que seria mais interessante na promoção de sua saúde. Ademais, o SG desenvolvido mostra-se como uma ferramenta diferenciada, saindo da perspectiva da transmissão de saberes e permitindo à criança protagonizar o próprio cuidado.
Tal jogo pode ter seus alimentos adaptados conforme o contexto social no qual os escolares estejam inseridos, respeitando a identidade alimentar destes.
1. Concepção do projeto, análise e interpretação dos dados: Iramara Lima Ribeiro, Mário Sérgio Gomes Filgueira, Irislândia Lima Ribeiro, José Guilherme da Silva Santa Rosa e Iris do Céu Clara Costa.
2. Redação do artigo e revisão crítica relevante do conteúdo intelectual: Iramara Lima Ribeiro, José Guilherme da Silva Santa Rosa e Iris do Céu Clara Costa.
3. Revisão e/ou aprovação final da versão a ser publicada: Iramara Lima Ribeiro, José Guilherme da Silva Santa Rosa e Iris do Céu Clara Costa.
4. Ser responsável por todos os aspectos do trabalho na garantia da exatidão e integridade de qualquer parte da obra: Iramara Lima Ribeiro.
1. Caballero B, Vorkoper S, Anand N, Rivera JA. Preventing childhood obesity in Latin America: an agenda for regional research and strategic partnerships. Obes Rev. 2017;18(supl. 2):3-6.
2. Longo-Silva G, Silveira JAC, Menezes RCE, Toloni MHA. Idade de introdução de alimentos ultraprocessados entre pré-escolares frequentadores de centros de educação infantil. J Pediatr. 2017;93(5):508-16.
3. Santos DRL, Lira PIC, Silva GAP. Excess weight in preschool children: the role of food intake. Rev Nutr. 2017;30(1):45-56.
4. World Health Organization. Population-based approaches to childhood obesity prevention. Geneva; 2012.
5. Einloft ABN, Cotta RMM, Araújo RMA. Promoção da alimentação saudável na infância: fragilidades no contexto da Atenção Básica. Ciênc Saúde Colet. 2018;23(1):61-72.
6. Alves GG, Aerts D. As práticas educativas em saúde e a Estratégia Saúde da Família. Ciênc Saúde Colet. 2011;16(1):319-25.
7. DeSmet A, Thompson D, Baranowski T, Palmeira A, Verloigne M, Bourdeaudhuij I. Is participatory design associated with the effectiveness of serious digital games for healthy lifestyle promotion? A meta-analysis. J Med Internet Res. 2016;18(4):e94.
8. Machado VM, Carvalho DS. Elaboração de uma sequência didática sobre hábitos alimentares e nutricionais saudáveis como contribuição para as aulas de ciências no ensino fundamental. Interfaces Educ. 2015;6(17):188-205.
9. Santos JC, Queiroz, Melo MFA. Pesquisando metodologias de (re)construção de aprendizagens a partir da interação com o computador. Rev Psicopedag. 2011;28(85):29-40.
10. Dias JD, Tibes CMS, Fonseca LMM, Zem-Mascarenhas SH. Uso de serious games para enfrentamento da obesidade infantil: revisão integrativa da literatura. Texto Contexto Enferm. 2017;26(1):e3010015.
11. Esteban MPS. Pesquisa qualitativa em educação: fundamentos e traduções. Porto Alegre (RS): McGraw-Hill; 2010.
12. Merleau-Ponty M. Fenomenologia da percepção. 4a ed. São Paulo (SP): WMF Martins Fontes; 2011.
13. Lima LC. Programa Alceste, primeira lição: a perspectiva pragmatista e o método estatístico. Rev Educ Pública. 2008;17(33):83-97.
14. Brasil. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica, Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição. Guia alimentar para a população brasileira: versão para consulta pública. Brasília (DF); 2014.
15. Pedraza DF, Melo NLS, Silva FA, Araujo EMN. Avaliação do Programa Nacional de Alimentação Escolar: revisão da literatura. Ciênc Saúde Colet. 2018;23(5):1551-60.
16. Freitas MCS, Minayo MCS, Ramos LB, Fontes GV, Santos LA, Souza EC, et al. Escola: lugar de estudar e de comer. Ciênc Saúde Colet. 2013;18(4):979-85.
17. Gerritsen S, Harré S, Swinburn B, Rees D, Renker-Darby A, Bartos AE, et al. Systemic barriers and equitable interventions to improve vegetable and fruit intake in children: interviews with national food system. Int J Environ Res Public Health. 2019;16(8):1387.
18. Ribeiro GM, Santos FL, Pereira ESS, Lima MVS, Sobrinho OPL. Experiência do projeto horta didática nas escolas de Mossoró-RN como proposta de educação ambiental, alimentar e nutricional. Rev Extendere. 2015;3(1):90-101.
19. Chaffee BW. Early life factors among the many influences of child fruit and vegetable consumption. J Pediatr. 2014;90:437-9.
20. Carvalho CA, Fonsêca PCA, Nobre LN, Priore SE, Franceschini SCC. Metodologias de identificação de padrões alimentares a posteriori em crianças brasileiras: revisão sistemática. Ciênc Saúde Colet. 2016;21(1):143-54.
21. Jorge K, Spinelli MGN, Cymrot R, Matias ACG. Avaliação do consumo de arroz e feijão em uma unidade de ensino no município de São Paulo. Rev Univap. 2014;20(36):35-46.
22. Albuquerque OMR, Martins AM, Modena CM, Campos HM. Percepção de estudantes de escolas públicas sobre o ambiente e a alimentação disponível na escola: uma abordagem emancipatória. Saúde Soc. 2014;23(2):604-15.
23. Righi MMT, Forgiarini AMC, Saldanha TMQ, Folmer V, Soares AA. Concepções de estudantes do ensino fundamental sobre alimentação e digestão. Rev Ciênc Ideias. 2012;4(1):1-17.
24. Parra Navarro LM. Jogo digital educacional para apoio no processo de ensino-aprendizagem nas escolhas alimentares de pré-escolares e escolares [dissertação]. Florianópolis (SC): Universidade Federal de Santa Catarina; 2016.
25. Pinheiro CCBV, Carvalho JM, Carvalho FLQ. Tecnologias em educação e saúde: papel na promoção de saúde bucal. II Seminário de Tecnologias Aplicadas a Educação em Saúde; 2015 out 29-30; Salvador (BA). Salvador (BA): Uneb; 2015.
26. Maranhão DG, Sarti CA. Shared care: negotiations between families and professionals in a child day care center. Interface Comun Saúde Educ. 2007;11(22):257-70.
27. Moreira PL, Dupas G. Significado de saúde e de doença na percepção da criança. Rev Latinoam Enferm. 2003;11(6):757-62.
28. Ramos M, Stein LM. Desenvolvimento do comportamento alimentar infantil. J Pediatr. 2000;76(supl. 3):s229-37.
29. Mattar J. Mundos virtuais, games e simulações em educação: alternativas ao design instrucional. In: Oliveira MOM, Pesce L, organizadores. Educação e cultura midiática. Salvador (BA): Eduneb; 2012. p. 69-96.
30. Carvalho LFBS. Explorando os mitos nacionais: contribuição ao aprendizado pelo estímulo à motivação a partir dos serious games [tese]. Porto Alegre (RS): Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 2016.
Recebido: 30.4.2019. Aprovado: 26.6.2020.
Suianne Braga de Sousaa
Lourdes Suelen Pontes Costab
Maria Salete Bessa Jorgec
Resumo
Este artigo tem por objetivo analisar as contribuições da enfermagem para o cuidado em saúde mental na Atenção Primária. Trata-se de um estudo qualitativo realizado em duas unidades de Atenção Primária à Saúde (APS) na cidade de Fortaleza, capital do estado do Ceará, no período de setembro a dezembro de 2018. Os dados foram coletados por meio de entrevista semiestruturada com sete enfermeiras e analisados mediante análise de conteúdo categorial. Os resultados indicaram que o cuidado em saúde mental no contexto da APS ainda é permeado por vários obstáculos, demonstrando fragilidade na formação dos profissionais e/ou desinteresse por esse tipo de atendimento. Ademais, a prática do apoio matricial pode contribuir para o cuidado em saúde mental na Atenção Primária, embora este se encontre fragilizado. Com isso, apreende-se que o profissional enfermeiro precisa apropriar-se mais do cuidado em saúde mental no contexto da APS, assim como as ações em rede e o apoio matricial necessitam ser mais bem desenvolvidos.
Palavras-chave: Saúde mental. Atenção Primária à Saúde. Enfermagem.
a Graduanda em Enfermagem pela Universidade Estadual do Ceará. Bolsista da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Fortaleza, Ceará, Brasil. E-mail: braga.sousa@aluno.uece.br
b Enfermeira. Mestre em Saúde Coletiva. Doutoranda em Saúde Coletiva pela Universidade Estadual do Ceará. Fortaleza, Ceará, Brasil. E-mail: lourdespsuelen@gmail.com
c Doutora em Enfermagem. Pesquisadora de Enfermagem da Universidade Estadual do Ceará. Fortaleza, Ceará, Brasil.
E-mail: maria.salete.jorge@gmail.com
Endereço para correspondência: Universidade Estadual do Ceará. Av. Silas Munguba, n. 1.700, Itaperi. Fortaleza, Ceará, Brasil. CEP: 60714-903. E-mail: braga.sousa@aluno.uece.br
Abstract
This article analyzed the contributions of Nursing to mental health care in Primary Care. This is a qualitative study carried out in two Primary Health Care Units (PHC) in the city of Fortaleza, capital of the state of Ceará, from September to December 2018. Data were collected through semi-structured interviews with seven nurses and analyzed through categorical content analysis. The results indicated that mental health care in the PHC context is still permeated by several obstacles, showing weakness in the training of professionals and/or lack of interest in this type of care. In addition, the practice of Matrix Support can contribute to mental health care in Primary Care, however it is weakened. Thus, there is a need for professional nurses to take more ownership of mental health care in the context of PHC as well as network actions and Matrix Support need to be better developed.
Keywords: Mental health. Primary Health Care. Nursing.
Este artículo tiene como objetivo analizar las contribuciones de la Enfermería al cuidado de la salud mental en la Atención Primaria. Este es un estudio cualitativo realizado en dos Unidades de Atención Primaria de Salud (APS) en Fortaleza, capital del estado de Ceará, de septiembre a diciembre de 2018. Los datos se recolectaron por medio de entrevistas semiestructuradas con siete enfermeras y se aplicó el análisis de contenido categórico. Los resultados indicaron que el cuidado de la salud mental en el contexto de la APS aún está permeado por varios obstáculos, que muestran debilidad en la capacitación de los profesionales y/o falta de interés en este tipo de atención. Además, la práctica de apoyo matricial puede contribuir al cuidado de la salud mental en la Atención Primaria, pero está debilitada. Esto demuestra que el profesional de la enfermería debe asumir una mayor responsabilidad sobre el cuidado de la salud mental en el contexto de la APS, así como las acciones de la red y de apoyo matricial deben desarrollarse mejor.
Palabras clave: Salud mental. Atención Primaria de Salud. Enfermería.
O cuidado, como objeto de estudo, tão abordado na sociedade contemporânea, traz consigo a propriedade de ele ser considerado inerente à condição humana, que orienta a essência do ser humano de cuidar e de ser cuidado. Ao longo da história, esse cuidado passou a ser necessário, estabelecendo-se como uma prática profissional e permitindo à sociedade o alcance de cuidados que tivessem o intuito de promoção, prevenção e recuperação da saúde.
Para além dessa perspectiva de ser propriedade, pode-se afirmar que o cuidado é considerado por muitos o objeto de estudo e o referencial para a enfermagem. Em consonância a isso, o enfermeiro é o profissional que dispõe da maior parte de seu tempo e de seu conhecimento com o intuito de ter com o outro uma relação de interatividade e reciprocidade, por meio do cuidado, com a finalidade de proporcionar uma melhor qualidade de vida ao indivíduo de quem cuida1.
Nesse sentido, pode-se afirmar que o conceito de cuidado em saúde vai muito além de práticas corretivas de doenças; significa, em sua forma mais genuína, dar atenção, acolher, respeitar e ensinar. Esse cuidado está alicerçado no princípio da humanização do tratamento do indivíduo enfermo2, cuidado esse que deve subsidiar o indivíduo para que ele busque domínio sobre seu corpo, sua mente e seu estado de saúde-doença, firmado em uma assistência integral e individualizada, com vistas à garantia da qualidade de vida para ele.
Entretanto, considera-se que o cuidado não deve ser atribuído exclusivamente ao profissional da enfermagem em função de sua maior experiência, conquistada ao longo do tempo com sua prática, devendo, na verdade, perpassar todas as profissões, uma vez que o cuidado em saúde tem como finalidade acolher indivíduos doentes e proporcionar-lhes alívio, conforto, bem-estar, mudanças de hábitos e, até mesmo, a cura e a sua reabilitação3
Nessa perspectiva de cuidado em saúde, que permeia todas as categorias profissionais dessa área, evidencia-se a importância de uma prática interdisciplinar, na qual a enfermagem e a equipe de saúde trabalhem de forma a fazer com que as práticas se complementem e culminem em uma atenção de qualidade às pessoas, integrando e articulando diferentes saberes e vivências.
Dessa forma, apreende-se que a saúde física não se dissocia da saúde mental, já que esta é definida como o nível de qualidade de vida cognitiva e emocional, enquanto o meio em que estamos inseridos e a capacidade de enfrentamento das adversidades podem afetar os indivíduos, a ponto de fazer adoecer ou não a sua mente4
Nesse contexto de atenção psicossocial, emergem os Centros de Atenção Psicossocial (Caps), que realizam a escuta e o acolhimento dos usuários que procuram o serviço ou que a ele são encaminhados, o acompanhamento com profissionais especializados, além de dar orientações sobre autocuidado, promoção da autonomia, reinserção social e medidas de enfrentamento da situação vivida. Os Caps oferecem, ainda, atividades em grupo, como oficinas e práticas de lazer.
Dessa forma, compreende-se que o cuidado em saúde mental não é restrito e exclusivo dos serviços substitutivos, como os Caps, uma vez que a Atenção Primária à Saúde (APS) também é responsável pelo atendimento aos pacientes com transtornos mentais, uma porta de entrada aos serviços de saúde, desenvolvida nos preceitos de descentralização, que permite à população um acesso a serviços de saúde no território, atuando de maneira resolutiva e atendendo o indivíduo considerando todos os seus aspectos biopsicossociais.
Embora se conformem com diferentes demandas na atenção à saúde da população, a APS e a Atenção Psicossocial partem dos mesmos princípios e das mesmas finalidades: a oferta de serviços voltados à saúde física, e também a promoção e a recuperação da saúde mental na assistência a indivíduos com transtornos mentais. Cabe, então, ao profissional estar preparado para atender cada indivíduo a partir de suas individualidades e de suas dimensões biopsicossociais.
Nesse contexto, destaca-se a importância da atuação dos profissionais de enfermagem na assistência ao paciente com transtorno mental, tanto na Atenção Psicossocial como na Atenção Básica, uma vez que eles atuam diretamente na prestação do cuidado, não se restringindo apenas à doença, mas ao indivíduo em sua totalidade. Diante disso, indagase sobre como o cuidado em saúde mental é produzido pelo enfermeiro no contexto da Atenção Primária. Assim, objetiva-se analisar as contribuições da enfermagem para o cuidado em saúde mental na Atenção Primária.
Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, que busca analisar as ações dos enfermeiros acerca do cuidado em saúde mental na Atenção Básica. Optou-se por esse tipo de estudo pelo entendimento de que ele se preocupa não com um nível de realidade que possa ser quantificado, e sim com o universo de crenças, valores, significados, ações e outros construtos profundos das relações sociais5
O estudo foi realizado em duas unidades de APS da cidade de Fortaleza, capital do estado Ceará, que é dividida administrativamente em seis Secretarias Regionais (SRs),
cada uma delas abrangendo determinados territórios do município, a fim de regionalizar e facilitar a administração dele. As duas unidades escolhidas estão localizadas na sexta regional da cidade, e tal escolha se deu por se tratar da maior regional, abrangendo 29 bairros da capital cearense.
Aceitaram participar da pesquisa sete dos dez enfermeiros atuantes nas unidades, que foram previamente convidados a participar e informados acerca da voluntariedade de sua participação. Todos eram do sexo feminino e possuíam pelo menos uma especialização. Como critério de seleção para inclusão, considerou-se ser profissional de enfermagem graduado e estar atuando por pelo menos seis meses na unidade. Como critérios de exclusão foram utilizados: afastamento por motivo de férias, atestados, licenças ou similares no momento da coleta de dados. Os entrevistados foram identificados pela letra E (enfermeira), acompanhada de uma sequência numérica.
A coleta de dados ocorreu entre os meses de setembro e dezembro de 2018, e foi utilizada a técnica da entrevista semiestruturada mediante roteiro pré-elaborado, contendo questões que abordavam o cuidado em saúde mental no serviço de Atenção Primária e integração (ou não) deste com os Caps. As entrevistas foram gravadas e transcritas na íntegra. É válido ressaltar também que a preferência por essa técnica se deu por se tratar de uma das técnicas de coleta de informações mais utilizadas, que tem por objetivo a investigação de determinado assunto por meio de perguntas formuladas pelo investigador6
Os dados oriundos das entrevistas foram analisados mediante análise categorial temática de Bardin7, que permite uma categorização, objetivando a efetuação das deduções lógicas e justificadas das mensagens do estudo. A análise temática permitiu condensar os dados, categorizando-os e uniformizando-os de forma a tornar mais acessível a análise das respostas e de suas interpretações. Complementam-se, a cada etapa, a descrição dos passos seguidos para a formulação e o confronto dos núcleos de sentido e das significações empíricas adaptados de Assis e Jorge8: ordenação, classificação e análise final dos dados
A primeira envolve leitura e releitura das entrevistas e, em seguida, dos conteúdos os quais foram organizados. A segunda se dá em duas etapas: uma voltada à leitura e à formulação dos núcleos de sentido; e a outra, à leitura transversal e ao confronto entre os significados e corpos de comunicações e formulação das unidades categoriais temáticas.
Já na análise final dos dados, enfatiza-se, segundo Assis e Jorge8, o encontro da especificidade do objeto, pela prova do vivido, com as relações essenciais que são estabelecidas nas condições reais e na ação particular e social. Para tanto, exige-se um movimento contínuo
entre os dados empíricos e o referencial teórico eleito pelo pesquisador a fim de analisar os significados dos discursos representados nas falas de cada participante.
A pesquisa obedeceu aos critérios éticos e legais da Resolução nº 466/12 e teve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Ceará, sob o parecer nº 2.853.335. Todos que participaram o fizeram voluntariamente e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
A leitura exaustiva do material proporcionou o estabelecimento das categorias emergentes das falas com relação aos assuntos abordados nas entrevistas. Dos dados coletados, surgiram duas temáticas: “Enfermagem e saúde mental: Atenção Psicossocial na Atenção Primária” e “Integração do cuidado em saúde mental com os Centros de Atenção Psicossocial (Caps)”.
ENFERMAGEM E SAÚDE MENTAL: ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NA ATENÇÃO
Sobre os atendimentos em saúde mental na APS, pode-se apreender, por meio dos relatos, a existência de atendimento para usuários com transtornos mentais que chegam à unidade de saúde, mas esse atendimento é, muitas vezes, restrito à consulta médica, pois existe um horário reservado na agenda desse profissional para o atendimento desse público. O atendimento de enfermagem, nesse caso, fica restrito à situação de acolhimento da demanda que chega ao serviço, cabendo ao profissional de enfermagem acolher o usuário e realizar os encaminhamentos necessários.
Nesse sentido, é sabido que o cuidado em saúde mental no contexto da Atenção
Primária é mais vantajoso para os usuários, à medida que proporciona acesso mais fácil e rápido, propicia o cuidado na comunidade, além de reduzir desperdícios ao diminuir solicitação de exames desnecessários e diagnósticos impróprios, podendo ter sua resolubilidade nesse contexto. Dessa forma, a Organização Mundial de Saúde (OMS)4 destaca a recomendação da oferta de cuidado, tratamento e organização de ações de saúde mental nesse âmbito.
“Aqui na unidade, os médicos da unidade eles têm um horário dentro da agenda deles, um dia na semana que é só pra saúde mental.” (E4).
“Pelo menos na agenda da enfermeira a gente não tem […]. Os médicos têm, eles têm agenda de saúde mental, né?” (E5).
“Tem um dia que é reservado para cada médico atender as pessoas de saúde mental.” (E7).
O cuidado em saúde mental ainda remete muito aos transtornos mentais, por isso, frente à indagação acerca da concepção dos profissionais em relação a esse atendimento na unidade, a principal fala encontrada é que, em sua grande maioria, esses casos são encaminhados para o médico, de preferência, quando disponível na unidade, o psiquiatra. Com isso, percebese uma fragilidade na atuação da enfermagem no campo da saúde mental, sendo notório que o modelo de cuidado ainda está direcionado para a perspectiva biomédica e de cura.
Nesse cenário, o modelo biomédico reforça a ideia do médico como ordenador do processo de trabalho, detentor do saber e autônomo em suas práticas, com isso, tornando-o a principal figura na assistência à saúde, com os demais profissionais submissos à sua prática9 Essa prática distancia a enfermagem de ser protagonista no seu modo de cuidar.
Ademais, no contexto da Atenção Primária, a Unidade Básica de Saúde (UBS) é compreendida como a principal porta de entrada no serviço de saúde e deve pautar suas ações com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que mude a autonomia, a saúde das pessoas e os determinantes e condicionantes de saúde10
Entretanto, o que se percebe é que as principais demandas de saúde mental que chegam à UBS estão associadas à renovação de receitas médicas, bem como ao atendimento de pacientes com transtornos mentais leves, como depressão e ansiedade. Assim, apreende-se a responsabilização da Atenção Básica em atender os pacientes com agravos leves, pois se trata de suas atribuições, mas a assistência ainda está direcionada para a prática de medicamentar o paciente.
“Se o paciente chegar com algum problema, com crise, aí ele passa no acolhimento, e aí a gente agenda pro médico do acolhimento ou, se for só uma renovação de receita, a gente tenta agendar naquele dia o médico da área dele.” (E4).
“É, geralmente é a renovação da receita e tudo. Mas, assim, não tem aquele acompanhamento mesmo de perto do paciente, não.” (E5).
“Muitos casos de pessoas com depressão, muitos casos de pessoas que chegam aqui, assim, chorando, com choro fácil, que não dormem à noite.” (E6).
“Pessoas que tomam remédios controlados.” (E7).
Os dados encontrados no presente estudo corroboram os achados ao analisar o acompanhamento dos casos de saúde mental na Atenção Primária, pois se nota que as ações dos profissionais enfocam e restringem-se à tríade consulta médica-receita-medicamento, diante das dificuldades do manejo de casos específicos e da limitação na formação acadêmica para lidar com a saúde mental11 Nessa perspectiva, percebe-se o precário atendimento prestado ao usuário, muito aquém dos preceitos do Sistema Único de Saúde (SUS) e dos propósitos da Reforma Psiquiátrica. Assim, essa é uma realidade que necessita de mudança, e, para que melhores resultados possam ser alcançados, o enfermeiro, como educador em saúde, deve desencorajar esse hábito, orientando sobre a importância de um atendimento integral, a participação de grupos e a necessidade de mudanças nos hábitos de vida. Outrossim, é importante que o enfermeiro saiba reconhecer e diferenciar na demanda cada tipo de sofrimento psíquico existente, uma vez que isso é fundamental para um planejamento adequado do manejo a ser realizado em cada situação.
Ao mesmo tempo, pode-se notar a escassez de conhecimento e preparo em assistir o paciente com transtorno mental. Por isso, reforça-se a necessidade de o enfermeiro estar preparado para receber esse paciente na Atenção Básica para, então, prestar uma assistência satisfatória e humanizada que ajude na reinserção do paciente na comunidade12 Nesse sentido, acerca do cuidado integral, centrado no usuário e não na doença, são necessárias algumas ações que consistem em acolher o usuário, realizar escuta ativa individual e proporcionar a formação de vínculo e confiança13, embora apenas uma das falas dos entrevistados revele essa postura:
“A gente faz toda a triagem do paciente, a gente vê todo o histórico, vê a questão do ambiente familiar, social, econômico, o todo que esse paciente passa pra poder ver os fatores de risco que levaram esse paciente a alguma alteração que pode estar contribuindo para aquela alteração do paciente. […] passam primeiro pela avaliação do enfermeiro pra depois passar […].” (E2).
Com isso, apreende-se que a atuação do enfermeiro na Atenção Primária no contexto da saúde mental deve ser alicerçada em ações planejadas que visem tanto um bom atendimento ao usuário na APS quanto a reinserção deste na sociedade. Conforme sugere o Ministério da Saúde (MS), por meio da Política Nacional de Saúde Mental (PNSM) 14 , essas ações devem transcender o modelo tradicional, muito voltado para a medicalização,
e investir na promoção da saúde e da integração social, na participação social e no fortalecimento da autonomia.
Dessa forma, é imprescindível buscar continuamente por conhecimento, ir além dos muros do local de trabalho e entender que a saúde mental deve estar presente em toda a assistência ao paciente. Entretanto, nenhum participante do estudo possuía alguma formação em saúde mental, e tal fato se dá em decorrência da falta de iniciativa dos próprios profissionais em buscar conhecimentos e práticas que viabilizem e melhorem o seu atendimento.
Com isso, é preciso ressaltar a importância de romper o estigma da saúde mental, reforçar a necessidade de uma assistência integral e humanizada e compreender que o usuário tem suas queixas, suas emoções e seus sentimentos. Tudo isso pode ser alcançado por meio de mais investimento e engajamento na formação e também via educação continuada, para, então, se chegar ao entendimento de que a saúde mental pode e deve ser trabalhada no contexto da APS.
Dentro da perspectiva de Redes de Atenção à Saúde (RAS), foi questionado aos participantes a respeito da relação que a Atenção Primária possuía com os Centros de Atenção Psicossocial. As RAS se configuram como arranjos para organizar as ações e os serviços de saúde, por meio de sistemas de apoio técnico, de logística e gestão, visando a integralidade do cuidado aos usuários que buscam os serviços, a fim de facilitar o acesso e manter uma comunicação e relação de integração15.
Através das falas dos entrevistados, foi percebida a frágil relação que ainda se mantém na conformação de uma RAS. Como se pode observar nas falas a seguir, há a perspectiva de encaminhamentos quando esse cuidado necessita de um olhar mais especializado, porém sem uma comunicação entre os dispositivos. Ou, ainda, há profissionais que demonstram nem sequer saber da existência de uma interação, o que contribui para a reflexão acerca da falta de conhecimento dos profissionais.
“Mas parceria assim, parceria de tá aquela referência e contrarreferência, não funciona muito bem, não. Porque muitas vezes… O Caps tá até agora sem médico, eles poderiam o quê? Ter referenciado esses pacientes pra Unidade Básica de Saúde, né? Mas não, “Vá procurar seu posto”. O paciente chega aqui atordoado,
com as medicações tudo atrasada, é um estresse. E quando vem com as receitas, né? Então assim, não tem essa contrarreferência, não tem essa parceria.” (E5).
“Do Caps para cá só quando lá eles não têm o médico para renovar receita deles, né? Aí eles vêm para cá.” (E6).
Outro aspecto evidenciado nas questões feitas às enfermeiras atuantes na Atenção Básica, na condução dos casos de saúde mental, foi a associação da resolubilidade do cuidado com ações de referência e contrarreferência com os Caps. Essas ações se configuram de importância indiscutível para a capacidade resolutiva do serviço, já que facilitam a interlocução dos serviços, proporcionam clareza das ações realizadas em cada equipamento, além de garantir ao usuário o estabelecimento de vínculo com ambos os serviços.
Contudo, seguindo nesse entendimento, a interface entre Caps e Atenção Primária foi retratada como algo que se distancia muito do preconizado. As enfermeiras relataram que se baseiam, grosso modo, em encaminhamentos que, muitas vezes, são realizados em nível de sistema de regulação, o que contribui para a dispersão desse usuário, perdendo-se o vínculo com a Atenção Primária, visto que o paciente não recebe uma contrarreferência ao ser atendido nos Caps.
Consoante a isso, quando há parceria entre APS e Caps nas ações de saúde mental, o usuário é acolhido na Atenção Primária; a partir de então, é estabelecido vínculo, que possibilita a adesão dos usuários às consultas e ao tratamento. Isso implica afirmar que as equipes dos dois serviços empreendem esforços que caminham na direção da Reforma Psiquiátrica Brasileira, a qual promulga cuidados na comunidade e máxima vinculação do usuário em seu território11
Outro aspecto abordado nas falas registradas foi a falta de suporte nos Caps, com a escassez de médicos para atendimento, o que acaba recaindo sobre a APS. Aqueles usuários atendidos nos Caps vão, algumas vezes orientados pelos Caps, sem adoção de uma referência que permita uma visualização do seu quadro, à Unidade de Atenção Básica em busca de renovação de receita, o que gera conflitos, ao passo que os profissionais que irão atendê-lo não conhecem a história do usuário, dificultando, dessa forma, a execução dos princípios de integralidade e humanização do cuidado, adotando apenas a prática de renovação de receita, como já citada anteriormente.
Diante de tais dificuldades, um recurso importante no atendimento aos usuários com demanda de saúde mental na APS é o Apoio Matricial (AM). Tal prática tem a perspectiva
de ampliar as articulações em saúde mental na Atenção Básica, pois favorece um arranjo organizacional que funciona como dispositivo assistencial e pedagógico16. Além disso, fomenta uma forma de produzir saúde a partir da troca de conhecimentos e integração entre a equipe de referência da AB e os profissionais especialistas em saúde mental.
“Nossa equipe tem tido matriciamento em saúde mental e aí tem pessoas do Caps e do Hospital de Messejana […]. E aí, assim, eles têm tido um contato mensal conosco, onde a gente traz alguns casos da área, que são de difícil manejo, que precisam de um especialista, e aí tendo sido feito, eles sempre trazem coisas sobre os transtornos, discutem com a gente características, tópicos específicos das doenças. […] Então tá tendo essa parceria, tá recente, mas, assim, muito produtiva, a gente gostou muito de ter esse contato.” (E3).
Assim, por meio da análise dos depoimentos anteriores, apreende-se que, mesmo ainda distante da realidade de alguns postos, a prática do matriciamento contribui muito para o atendimento em saúde mental, sendo indispensável e visto de forma altamente positiva e colaborativa para a efetividade da integralidade do cuidado. Portanto, o cuidado em saúde mental na APS, junto com o apoio matricial, é capaz de produzir um atendimento qualificado, diminuindo as taxas de referências a serviços especializados.
Com base nisso, esse atendimento centralizado no território proporciona, entre as diversas vantagens ao usuário, uma aproximação do profissional com o paciente, fortalecendo vínculos, além de propiciar a diminuição do estigma associado à pessoa com transtorno mental17.
Todavia, o que deveria facilitar todo o acesso e a resolutividade, em algumas ocasiões, acaba tendo efeito reverso e sobrecarregando as tarefas na APS. Essa integração deveria funcionar como uma tecnologia que contribuísse para o melhor atendimento do usuário, porém a falta de recursos humanos, comunicação, integração e supervisão torna a perspectiva de rede falha.
O cuidado em saúde mental no contexto da Atenção Primária de Saúde ainda é permeado de vários obstáculos. Cuidar da saúde mental exige, além de conhecimentos teóricos científicos, manejo, empatia e humanização. Um indivíduo com demanda de saúde mental deve ser compreendido como ser integral que requer atenção às suas dimensões biopsicossociais.
Por esse motivo, o enfermeiro é o profissional que presta atenção direta e está mais próximo do paciente, principalmente no contexto da Atenção Primária. Entretanto, os enfermeiros não se apropriam do cuidado em saúde mental e acabam apenas transferindo essa demanda para o profissional médico, demonstrando falta de conhecimento e/ou desinteresse nesse tipo de atendimento. Dessa forma, espera-se, sobretudo, que os enfermeiros da APS tanto compreendam a importância de uma abordagem que englobe o indivíduo como um todo quanto ampliem, em suas práticas direcionadas para as singularidades, a subjetividade e a individualidade de cada usuário.
Ademais, o Apoio Matricial, ferramenta que contribui para o atendimento e o entendimento de questões da saúde mental, mostra-se, ainda, como uma realidade que não contempla todos os serviços. Além disso, o AM apresenta falhas na interlocução com os Caps, cuja proposta da Rede de Atenção à Saúde funcionaria de forma a contribuir para essa comunicação, esse acesso e essa resolubilidade. Nota-se, portanto, que há muito a ser melhorado no contexto da integração desses dispositivos constituintes das RAS.
Ressalte-se, então, a importância de maiores investimentos tanto por parte da gestão, por meio da oferta de atividades de educação continuada no intuito de oferecer aos profissionais novas estratégias de cuidado em saúde mental, quanto dos profissionais, que devem investir na melhoria da sua prática, buscando novas metodologias assistenciais.
Dessa forma, espera-se que o presente estudo possa contribuir para despertar o interesse de profissionais e gestores na melhoria do cuidado em saúde mental, e que parcerias possam ser desenvolvidas, principalmente aquelas que envolvam práticas de extensão da universidade, a fim de promover, efetivamente, avanços na consolidação da Reforma Psiquiátrica.
Projeto “Gestão em redes compartilhadas: espaços de tecnologia e inovação para o cuidado na Atenção Primária à Saúde”, financiado pela Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
1. Concepção do projeto, análise e interpretação dos dados: Suianne Braga de Sousa, Lourdes Suelen Pontes Costa e Maria Salete Bessa Jorge.
2. Redação do artigo e revisão crítica relevante do conteúdo intelectual: Suianne Braga de Sousa e Lourdes Suelen Pontes Costa.
3. Revisão e/ou aprovação final da versão a ser publicada: Suianne Braga de Sousa, Lourdes Suelen Pontes Costa e Maria Salete Bessa Jorge.
4. Ser responsável por todos os aspectos do trabalho na garantia da exatidão e integridade de qualquer parte da obra: Suianne Braga de Sousa, Lourdes Suelen Pontes Costa e Maria Salete Bessa Jorge.
1. Backes DS, Sousa FGM, Mello ALSF, Erdmann AL, Nascimento KC, Lessmann JC. Concepções de cuidado: uma análise das teses apresentadas para um programa de pós-graduação em enfermagem. Texto Contexto Enferm. 2006;15(esp.):71-8.
2. Calgaro A, Souza EN. Percepção do enfermeiro acerca da prática assistencial nos serviços públicos extra-hospitalares de saúde mental. Rev Gaúcha Enferm. 2009;30(3):476-83.
3. Carnut L. Cuidado, integralidade e atenção primária: articulação essencial para refletir sobre o setor saúde no Brasil. Saúde Debate. 2017;41(115):1177-86.
4. Organização Mundial de Saúde. Relatório sobre a saúde no mundo 2001: Saúde mental: nova concepção, nova esperança. Geneva; 2001.
5. Minayo MCS, organizadora. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 22a ed. Petrópolis (RJ): Vozes; 2003.
6. Gil AC. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6a ed. São Paulo: Atlas; 2008.
7. Bardin L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70; 2011.
8. Assis MMA, Jorge MSB. Métodos de análise em pesquisa qualitativa. In: Santana JSS, Nascimento MAA, organizadores. Pesquisa: métodos e técnicas de conhecimento da realidade Social. Feira de Santana (BA): Universidade Estadual de Feira de Santana; 2010. p. 139-59.
9. Melo CMM, Florentino TC, Mascarenhas NB, Macedo KC, Silva MC, Mascarenhas SN. Autonomia profissional da enfermeira: algumas reflexões. Esc Anna Nery. 2016;20(4):e20160085.
10. Brasil. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Básica. Série E. Legislação em Saúde. Brasília (DF); 2012.
11. Bezerra IC, Morais BJ, Paula ML, Silva TMR, Jorge MSB. Uso de psicofármacos na atenção psicossocial: uma análise à luz da gestão do cuidado. Saúde Debate. 2016;40(110):148-61.
12. Ribeiro ML, Medeiros MS, Albuquerque JS, Fernandes SMBA. Saúde mental e enfermagem na estratégia saúde da família: como estão atuando os enfermeiros? Rev Esc Enferm USP. 2010;44(2):376-82.
13. Silva APM, Coelho BP, Souza e Souza LP, Silva KMA, Silva EP, Pinto IS, et al. Saúde mental no trabalho do enfermeiro da Atenção Primária de um município no Brasil. Rev Cuba Enferm. 2015;31(1):1-31.
14. Brasil. Ministério da Saúde. Política Nacional de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas [Internet]. Brasília (DF); 2017 [citado em 2020 ago 25]. Disponível em: https://www.saude.gov.br/component/content/article/851-saude-mental/41047politica-nacional-de-saude-mental-alcool-e-outras-drogas
15. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010. Estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília (DF); 2010.
16. Gurgel ALLG, Jorge MSB, Caminha ECCR, Maia Neto JP, Vasconcelos MGF. Cuidado em saúde mental na estratégia saúde da família: a experiência do apoio matricial. Rev Enferm UERJ. 2017;25:e7101.
17. Hirdes A, Scarparo HBK. O labirinto e o Minotauro: saúde mental na Atenção Primária à Saúde. Ciênc Saúde Colet. 2015;20(2):383-93.
Recebido: 27.4.2019. Aprovado: 6.7.2020.
João Rubens Teixeira de Castro Silvaa
José Carlos Barbosa Andrade Júniorb
Paulo Henrique da Silvac
Ana Conceição de Oliveira Cravo Teixeirad Larissa Rolim Borges-Paluche
Resumo
A reabilitação protética tem por finalidade restituir as funções mastigatórias, estéticas e fonéticas, além de proporcionar melhorias na qualidade de vida. Diversas lesões podem se desenvolver na mucosa bucal, sendo algumas relacionadas ao uso de próteses dentárias removíveis precariamente higienizadas e/ou mal adaptadas. Assim, este trabalho teve como objetivo investigar a presença de lesões bucais em pacientes usuários de próteses dentárias removíveis atendidos em uma Unidade Básica de Saúde em um município do Recôncavo da Bahia. O estudo se caracteriza como uma pesquisa descritiva de abordagem quantitativa. Os procedimentos e os instrumentos de coletas foram avaliações clínicas, além do preenchimento de um formulário semiestruturado. A população estudada foi composta por 66 pacientes, sendo todos usuários de próteses removíveis. Diante dos resultados obtidos, observou-se que 75,8% dos pacientes apresentavam lesões bucais, sendo que as principais foram úlcera traumática, queilite angular, hiperplasia fibrosa inflamatória e estomatite protética – esta última a mais presente nos voluntários, representando 53,31% dos casos. Palavras-chave: Manifestações bucais. Assistência odontológica. Patologia bucal.
a Cirurgião-Dentista. Mestrando em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente pela Faculdade Maria Milza. Governador Mangabeira, Bahia, Brasil. E-mail: rubenscastro@live.com
b Cirurgião-Dentista. Governador Mangabeira, Bahia, Brasil. E-mail: junior.andrade.11@hotmail.com
c Engenheiro Agronômico. Doutor em Ciências Agrárias. Governador Mangabeira, Bahia, Brasil. E-mail: pphsilvaufrb@ gmail.com
d Cirurgiã-Dentista. Mestre em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente. Docente da Faculdade Maria Milza. Governador Mangabeira, Bahia, Brasil E-mail: aninhacravo@yahoo.com.br
e Bióloga. Doutor em Ciências Biológicas. Docente do Mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente e do Mestrado em Biotecnologia da FAMAM. Governador Mangabeira, Bahia, Brasil. E-mail: larissapaluch@gmail.com
Endereço para correspondência: Rodovia BR-101, km 215, caixa postal 53. Governador Mangabeira, Bahia, Brasil. CEP: 44350-000. E-mail: rubenscastro@live.com
Abstract
Prosthetic rehabilitation seeks to restore the chewing, aesthetic and phonetic functions, in addition to providing improvements in quality of life. Several lesions may develop on the buccal mucosa, some are related to the use of poorly sanitized and/or poorly adapted removable dentures. Thus, this study investigated the use of removable dentures and the presence of oral lesions in patients seen in a Primary Health Unit in a municipality of Recôncavo, Bahia, by utilizing a descriptive survey of quantitative nature. The procedures and instruments for clinical assessments and collections were filling a semi-structured form. The study population was composed of 66 patients, all users of removable dentures. The results showed that 75.8% of the patients had oral lesions. The main injuries were diagnosed as traumatic ulcer, stomatitis, angular cheilitis, inflammatory fibrous hyperplasia, and prosthetic stomatitis, wherein the latter was the most common, representing 53.31% of cases.
Keywords: Oral manifestations. Dental care. Oral pathology.
Resumen
La rehabilitación de la prótesis tiene como objetivo restaurar las funciones masticatorias, estéticas y fonéticas, además de mejorar la calidad de vida. Se pueden desarrollar varias heridas en la membrana mucosa bucal, las cuales son ocasionadas por el uso de prótesis dentales removibles precariamente higienizadas y/o con mala adaptación. Este trabajo objetiva evaluar la presencia de lesiones bucales en usuarios de prótesis dentales removibles atendidos en una Unidad Básica de la Salud en un municipio del Recôncavo da Bahia. El estudio es descriptivo, con enfoque cuantitativo. Los procedimientos y los instrumentos de recolección fueron evaluaciones clínicas y el relleno de un cuestionario semiestructurado. La población estudiada fueron 66 pacientes, todos usuarios de prótesis removibles. Los resultados obtenidos permitieron observar que el 75,8% de los pacientes presentaban heridas bucales, las principales diagnosticadas fueron úlcera traumática, queilitis angular, hiperplasia fibrosa inflamatoria y estomatitis prostética, siendo esta la más presente en los voluntarios, en el 53,31% de los casos.
Palabras clave: Manifestaciones bucales. Atención Odontológica. Patología bucal.
O edentulismo se constitui como um relevante agravo à saúde bucal e representa um problema de saúde pública. Sua alta prevalência pode ser identificada pelas características socioculturais e econômicas da população, como também pela preponderância das práticas curativas em relação às preventivas, exercidas por muitos anos dentro do contexto assistencial público odontológico1.
As perdas dentárias produzem efeitos negativos ao sistema estomatognático e motivam a procura pelo restabelecimento das funções orais por grande parte da população edêntula. Nesse sentido, a reabilitação protética é caracterizada pela possibilidade de devolver de maneira funcional e estética as estruturas dentais perdidas. Apesar dos avanços alcançados pela odontologia reabilitadora nos últimos anos, como o aprimoramento dos implantes osseointegrados, muitos pacientes não têm condições de saúde e/ou financeiras para aderir a essa terapia2
Por consequência desse fato, as próteses dentárias removíveis são consideradas a primeira opção por muitos indivíduos desdentados, sendo seu uso bastante prevalente, além de representar uma alternativa de extrema relevância dentro da odontologia moderna. Entretanto, se não planejada e confeccionada adequadamente, essas próteses podem acarretar sérios problemas à saúde do usuário3
O uso de próteses removíveis pode ocasionar modificações microbiológicas na cavidade bucal em razão de alterações quantitativas e qualitativas do biofilme que, por sua vez, tem papel importante quanto ao desenvolvimento de lesões teciduais decorrentes da má higienização oral e das próteses. Além disso, a utilização desse aparato com adaptação deficiente pode gerar lesões de natureza traumática. As lesões mais prevalentes nos usuários são úlcera traumática, estomatite protética, queilite angular, hiperplasia fibrosa inflamatória e hiperplasia papilar inflamatória, que além de produzirem desconfortos e comprometerem a saúde dos pacientes, afetam o prognóstico do tratamento reabilitador4
É também muito importante ressaltar que a má higienização bucal e o uso de próteses mal adaptadas são apontados como fatores de risco para o surgimento do câncer de boca, pois as características clínicas de determinadas lesões decorrentes do uso das próteses podem ser inicialmente confundidas com um carcinoma ou uma lesão potencialmente maligna, colaborando para o diagnóstico tardio da doença, uma vez que, em seu estágio inicial, as lesões apresentam-se clinicamente inofensivas e são assintomáticas5
Desse modo, este estudo teve como objetivo investigar a presença de lesões bucais em pacientes usuários de próteses dentárias removíveis atendidos em uma Unidade Básica de Saúde em um município do Recôncavo da Bahia.
O estudo se justifica em razão das próteses dentárias removíveis em más condições higiênicas e de adaptação produzirem danos à saúde bucal de seus usuários. Além disso, medidas preventivas e de intervenção referentes a esse tema são pouco debatidas, como também é observado pouco destaque acerca da importância das consultas periódicas ao cirurgião-dentista para manutenção e troca do aparelho protético. Ademais, os resultados desta pesquisa podem contribuir com os gestores em saúde pública a fim de elaborar ações estratégicas de saúde efetivas, visando à melhoraria da saúde bucal da população.
Trata-se de um estudo descritivo com abordagem quantitativa, realizado em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) situada na zona rural de um município do Recôncavo Baiano. Os critérios de inclusão estabelecidos na pesquisa foram: ser usuário de próteses dentárias removíveis (superior, inferior ou ambos), residir na zona rural adstrita da UBS e ter idade igual ou superior a 18 anos. O critério de exclusão foi não estar presente na UBS nas datas de coleta. Inicialmente, foram realizadas palestras voltadas ao tema em dias e turnos alternados na referida UBS ou em outro local previamente agendado, com o objetivo de atrair os pacientes, almejando alcançar uma quantidade significativa de participantes da investigação.
Além das palestras, foram expostos no local cartazes sobre a higienização bucal e prevenção do câncer de boca, além da distribuição de folhetos ilustrativos sobre a correta higienização das próteses removíveis e o autoexame bucal.
A amostra utilizada foi a de conveniência, e para coleta de dados foi utilizado um formulário estruturado, como também foram realizadas avaliações clínicas bucais. As avaliações sobre a presença de lesões bucais e as condições físicas e de higiene das próteses removíveis foram feitas por dois avaliadores calibrados e treinados.
Os métodos de calibração utilizados como parâmetros para o diagnóstico das lesões bucais foram seus aspectos visuais, levando-se em consideração, também, as informações descritas pelos pacientes durante os exames. A partir desses dados, foi feita a classificação da lesão, baseada nas especificações descritas por Neville6
As avaliações bucais dos participantes foram feitas com auxílio de uma espátula de madeira descartável para afastamento da língua e tecidos moles. Durante as avaliações clínicas, as normas de biossegurança foram rigorosamente seguidas e respeitadas, com toda equipe envolvida fazendo uso de todos os equipamentos de proteção individual (jaleco, óculos de proteção, gorro, máscara e luvas descartáveis).
Na aferição do erro intraexaminador foi utilizado o coeficiente de Kappa, que buscou quantificar a concordância entre os dois examinadores que classificaram independentemente as mesmas unidades dentro das mesmas categorias (nominais ou ordinais), sendo realizado durante duas semanas, totalizando 40 horas. Observou-se boa concordância intra e interexaminadores, sendo que os cálculos variaram entre 0,71 e 0,78. Ao final de 30 dias, foram selecionadas aleatoriamente e reavaliadas 5% da amostra, para aferir a manutenção da concordância dos examinadores.
Os dados obtidos nos exames foram armazenados na ficha de avaliação clínica de cada participante. As avaliações bucais foram realizadas em cadeira odontológica no consultório da UBS, obedecendo às regras de ergonomia. Nessa situação, cada paciente examinado ficou sentado, e o avaliador, posicionado de maneira que favorecesse a melhor visualização da cavidade bucal, com o anotador ao seu lado, portando também uma lanterna de mão para melhor iluminação e visibilidade da cavidade bucal. Os pacientes que necessitaram de acompanhamento foram encaminhados à clínica especializada para exame da lesão por um estomatologista.
Deve-se mencionar que este estudo teve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Maria Milza (CEP-FAMAM), com parecer consubstanciado com o número 2.535.977 (CAAE: 83715817.4.0000.5025), seguindo as normas éticas em pesquisa com seres humanos preconizadas na Resolução nº 466, de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, e sendo respeitadas também todas as especificidades éticas das pesquisas de interesse estratégico para o Sistema Único de Saúde, conforme a Resolução nº 580, de 22 de março de 2018. Foram observados os aspectos de sigilo das informações que envolvem os usuários, bem como respeito, autonomia, beneficência e não maleficência do indivíduo. Além disso, as avaliações clínicas foram realizadas somente depois da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido em duas vias, ficando uma em posse do pesquisador e outra do participante voluntário.
A técnica utilizada para a análise de dados foi a estatística descritiva, utilizando-se a frequência simples e a relação absoluta. Para isso, os dados obtidos foram tratados e analisados mediante a utilização do pacote estatístico Statistical Package for the Social Sciencess (SPSS) 22.0. Os resultados obtidos estão apresentados em tabelas e figuras a seguir.
Os fatores sociodemográficos e econômicos (sexo, cor autorreferida, escolaridade e renda), comportamentais (tabagismo e etilismo) e os hábitos de higiene bucal e das próteses
(quantidade de higienização diária, forma de higienização, instrução recebida para higienização e tempo de uso da prótese) dos 66 participantes da pesquisa estão descritos na Tabela 1.
Tabela 1 – Distribuição dos participantes segundo as características sociodemográficas, econômicas e comportamentais de usuários de UBS de município do Recôncavo
Referente à idade, os maiores percentuais foram de 35 indivíduos (53%) para a faixa etária de 51 a 70 anos e 21 (31,9%) para aqueles que apresentaram idade entre 31 a 50 anos no momento da coleta. Dentre os pacientes avaliados, 53 (80,3%) eram do sexo feminino e 13 (19,7%), do sexo masculino.
No que diz respeito à cor/raça/etnia, 39 (59,1%) se autodeclararam como pertencentes à classificação melanoderma, 21 (31,8%) à faioderma e 6 (9,1%) à leucoderma. Referente à sua profissão, 45 (68,2%) relataram serem lavradores, 14 (21,2%) aposentados, enquanto 7 (10,6%) exerciam outra atividade (dona de casa, pedreiro ou estudante). A maioria dos voluntários, 52 indivíduos (78,8%), afirmou ter renda de até 1 salário mínimo.
Quando questionados em relação a sua escolaridade, 35 (53%) dos voluntários alegaram ter estudado até o primário, e 12 (18,2%) eram analfabetos.
Dentre os envolvidos na pesquisa, 2 (3%) eram tabagistas, 11 (16,7%) deixaram de fumar, e 53 (80,3%) responderam de forma negativa ao questionamento, ou seja, não eram tabagistas. Em relação ao etilismo, 13 (19,7%) faziam uso de bebidas alcoólicas, 5 (7,6%) relatam ser ex-etilistas e 48 (72,7%) não ingerem bebidas com teor alcoólico.
Referente à frequência de higienização bucal e das próteses, 33 (50%) dos pacientes informaram que as realizam duas vezes ao dia. Além disso, foi relatado por grande parte dos voluntários, 55 (83,3%), que não fazem uso do fio dental em suas unidades dentárias remanescentes, e também não usam enxaguantes bucais, número que correspondeu a 51 (77,3%). Quanto à forma de higienização das próteses, a maioria dos participantes, 58 (87,9%), referenciou usar escova, água e creme dental.
Verificou-se que somente três (4,5%) indivíduos realizam a correta higienização química, que inclui o uso de hipoclorito de sódio e/ou pastilhas efervescentes. Apenas uma pequena parte dos voluntários, 25 (37,8%), faz escovação três vezes ao dia. E quando questionados se já haviam recebido algum tipo de orientação acerca da higienização de suas próteses, apenas 29 (43,9%) responderam positivamente.
Em relação ao tempo de uso da prótese atual, 42 voluntários (63,6%) a utilizavam a menos de 5 anos, enquanto 21 (31,9%) faziam uso do aparelho protético entre 5 e 10 anos, e apenas três (4,5%) a utilizam havia mais de 10 anos.
Em relação à presença de lesões bucais, dentre os 66 pacientes avaliados, 50 (75,8%) foram diagnosticados com algum tipo de lesão. Desses 50 usuários, 35 (70%) apresentaram um tipo de lesão, e em 15 indivíduos (30%) foi perceptível a presença de mais de um tipo.
As principais lesões encontradas na cavidade bucal de usuários de próteses removíveis foram: 13 (20%) úlcera traumática; 34 (52,31%) estomatite protética; 6 (9,23%)
queilite angular; e 12 (18,46%) hiperplasia fibrosa inflamatória (Figura 1). Cabe ressaltar que a hiperplasia papilar do palato não foi diagnosticada em nenhum dos voluntários avaliados.
A partir desta pesquisa, verifica-se que dentre as lesões encontradas, houve maior presença da estomatite protética, contabilizada em 34 (51,6%) pacientes. Esse achado pode estar relacionado aos fatos de que grande parte dos participantes do estudo eram usuários de próteses totais superiores (56,1%) e nunca haviam recebido instruções de higiene oral (56,1%).
Além das principais lesões classificadas como decorrentes do uso de próteses, um voluntário apresentou uma alteração que foi diagnosticada como suspeita de leucoplasia, tendo sido encaminhado para realização de biópsia e exame histopatológico para confirmação do diagnóstico.
São observados na Tabela 2 possíveis fatores contribuintes para o surgimento de lesões bucais nos voluntários desta pesquisa, sendo verificado que somente 28 (42,4%) das próteses estavam higienizadas no momento da coleta, enquanto 38 (57,6%) foram mal higienizadas e apresentavam biofilme visível. Sobre a adaptação, 33 (50%) relataram que suas próteses removíveis encontravam-se folgadas ou apertadas, e 33 (50%) das próteses avaliadas estavam corretamente adaptadas.
Além da higienização e da adaptação foram analisadas as condições físicas das próteses, como, também, o questionamento quanto a sua remoção antes de dormir e a seu
local de armazenamento. Sobre as condições físicas, foi observado que 43 (65,2%) estavam satisfatórias, enquanto 23 (34,8%) estavam insatisfatórias, com presença de fraturas e defeitos.
Tabela 2 – Distribuição dos fatores avaliados nas próteses utilizadas de usuários de UBS de município do Recôncavo Baiano – 2018
Referente à remoção da prótese antes de dormir, 45 (68,2%) responderam que a removem, sendo que, desse grupo, 29 (44%) armazenam-na em um copo com água, 8 (12,1%) colocam-na em um copo com água e hipoclorito de sódio, 7 (10,6%) deixam-na em um local seco e apenas um (1,5%) utiliza outro meio de armazenamento.
Em relação à faixa etária, verifica-se que embora o serviço público odontológico tenha passado por significativos progressos relativos à prevenção e ao tratamento de problemas bucais, foi possível notar que os resultados deste estudo estão em concordância com os dados do último levantamento epidemiológico (SB Brasil) realizado em 2010. Nesse estudo, os números acerca do uso de próteses dentárias superiores e inferiores em diferentes grupos etários revelaram que o grupo populacional com idade mais avançada (65 a 74 anos) apresentou maiores porcentagens, sendo que 76,5% destes são usuários de prótese superior e 53,9% utilizam algum tipo de prótese inferior8
Concernente ao sexo, Santos et al. 9 destacaram em seu estudo, realizado com 110 usuários de próteses dentárias, que 79,1% dos participantes examinados eram
do sexo feminino, semelhante aos resultados de Bomfim et al.10 e Medeiros et al. 11, que identificaram que as mulheres corresponderam, respectivamente, a 58,6% e 68,8% das amostras. Segundo alguns autores, a provável justificativa pode estar relacionada ao fato de que as mulheres são mais dispostas a buscar auxílios odontológicos e procedimentos reabilitadores, além de utilizarem, com maior frequência, serviços públicos de saúde 12
Os resultados das variáveis cor/raça/etnia e renda ratificam as exposições de outros autores quando relatam as desigualdades presentes nos indicadores de saúde aspectos que influenciam nas precárias condições de saúde de melanodermas e pessoas de baixa renda13.
No contexto escolaridade, os autores Pilger, Menon e Mathias14 enfatizam a importância das iniciativas públicas e de organizações não governamentais (ONG) em torno do analfabetismo e da educação continuada de idosos e adultos, uma vez que a baixa escolaridade influencia na sua vida econômica, social e, consequentemente, na procura por serviços de saúde.
Além disso, maus hábitos de vida, como o etilismo e tabagismo, são considerados condições predisponentes para a manifestação de problemas de saúde, uma vez que afetam o mecanismo fisiológico do indivíduo, tornando-o mais vulnerável. E embora o número de indivíduos que utilizam tabaco e são consumidores de álcool seja pequeno em relação à amostra, esse fato não isenta a constatação de que tais hábitos são altamente prejudiciais à saúde, sendo ambos considerados fatores de risco para o surgimento de neoplasias e patologias sistêmicas.
No âmbito da prevenção e da manutenção da saúde bucal, a correta higienização e a preservação das próteses exercem importante papel para integridade tecidual4,15. Os mesmos materiais utilizados para a higienização (escova, água e creme dental) também foram citados em estudo de Nóbrega et al.12 por 68% dos indivíduos.
Segundo Saha et al.16, realizar a correta higienização com frequência diária de três vezes e utilizar a combinação da alternativa mecânica e química faz parte da manutenção e se caracteriza como um dever do usuário da prótese removível. No entanto, essas preconizações não foram observadas no presente estudo.
Gonçalves et al.4 salientam a importância de evitar o uso de abrasivos e de utilizar, preferencialmente, escova apropriada para próteses, por estas terem cerdas cônicas e cilíndricas, além de seu tamanho favorecer a higienização de áreas mais difíceis, como a superfície interna. A imersão em peróxido alcalino ou hipoclorito de sódio a 0,5%, exceto em próteses com metal em sua estrutura, também são práticas indicadas.
Em contrapartida, estudos de Nóbrega et al.12 e Memon et al.17 relataram que, respectivamente, 59% e 62% dos participantes tinham recebido instruções prévias do cirurgiãodentista. Além disso, Rathee, Hooda e Ghalaut18 consideram imprescindível a disponibilização
de informações e instruções por parte do odontólogo, a fim de garantir o aperfeiçoamento dos hábitos de higiene de seus pacientes, controlando a formação de biofilme e objetivando a integridade tecidual e a saúde bucal.
Shigli et al.19 expõem resultados semelhantes em relação ao tempo de uso da prótese, relatando que próteses utilizadas por um período de até 5 anos apresentaram maior predominância, com 48,4%. Entretanto, esses dados são divergentes quando comparados a Medeiros et al.11, em cujo estudo as próteses com mais de cinco anos de uso representaram 54,5%. Ainda, Nóbrega et al.12 enfatizam que as próteses removíveis têm um período de vida útil de até 5 anos, e que depois desse tempo, devem ser substituídas, pois estarão estética e funcionalmente comprometidas. Cabe ressaltar que a utilização prolongada de próteses pode ocasionar danos ao rebordo alveolar e aos tecidos de suporte.
Bomfim et al.10 examinaram 94 pacientes portadores de próteses dentárias e puderam constatar que, assim como os resultados obtidos neste estudo, houve maior predominância dos pacientes que apresentavam lesões, representando 69,1% do número coletado. Do mesmo modo, Matos et al.20 observaram que em 89,3% dos indivíduos avaliados foi notória a presença das lesões.
Entretanto, Santos et al.9 e Maciel et al.21 verificaram que somente 34,6% e 39,5%, de seus respectivos pacientes tinham lesões. Em relação à quantidade de lesões encontradas em cada paciente, Matos et al.20 e Maciel et al.21 evidenciaram que foram registradas mais de um tipo de lesão em alguns voluntários, corroborando com os resultados encontrados nesta pesquisa. Nos levantamentos feitos por Matos et al.20 e Barcellos et al.22, todas as lesões observadas coincidem com as que foram detectadas nesta investigação. Além disso, cabe mencionar que dentre essas lesões, algumas também foram identificadas na pesquisa de Medeiros et al.11, como a hiperplasia fibrosa inflamatória e a candidíase (sendo a estomatite protética um tipo da candidíase eritematosa).
Com relação às lesões observadas Bomfim et al.10 e Maciel et al.21, a estomatite protética também se destacou como bastante ocorrente, acometendo, respectivamente, 44,6% e 78% do número total de suas amostras. Entretanto, alguns autores observaram que não é possível relacionar a manifestação da estomatite a somente um fator causal, pois diversos motivos podem ser considerados para o seu surgimento, como o uso de prótese superior atrelada à falta de instruções e a maus hábitos de higienização10,22. Além disso, manifestação da candidíase bucal está associada à má higienização do aparelho protético, ao passo que a presença da estomatite protética tem relação com a prótese total, além de outros fatores também observados como, por exemplo, a xerostomia.
Os estudos de Medeiros et al.11 e Matos et al.20 também encontraram pacientes com leucoplasia em 7,7% e 8,82% de suas amostras, respectivamente – ao contrário das pesquisas de Bomfim et al.10 e Maciel et al.21, que não levantaram a hipótese diagnóstica dessa lesão em seus resultados.
Ressalta-se, ainda, que a leucoplasia é caracterizada como uma lesão potencialmente maligna, não sendo removida por meio de raspagem e apresentando coloração branca de forma predominante, além de sua superfície poder ter textura lisa, rugosa ou verrucosa. Portanto, pode ser confundida clinicamente com outra alteração de cor branca, a exemplo da queratose friccional, ocasionada pela irritação mecânica crônica pelo uso de próteses removíveis, que, nesse caso, é reversível, depois da eliminação do fator etiológico, não sofrendo transformações de malignidade6
Trindade et al.243 descrevem que alguns fatores, como más condições de higienização e/ou adaptação das próteses, influenciam no desenvolvimento de lesões bucais. Cabe frisar que esse aspecto favorece a manifestação de lesões fúngicas e vai ao encontro dos resultados de Bomfim et al.10, no qual a grande parte das próteses analisadas (73,4%) estava mal higienizada, e de Barcellos et al.22, que notaram a presença de placa removível em 93,3% das próteses analisadas em seu estudo.
Entretanto, Matos et al.20 relataram que em seu estudo, 42,8% das próteses removíveis estavam desadaptadas. É válido destacar que próteses com adaptação deficiente atuam como agente colaborador pra manifestação de lesões originadas por traumas.
Nesse contexto, Arnaud et al.243 destacaram que em sua pesquisa houve relação estatisticamente significativa entre a presença de estomatite protética com as seguintes variáveis: tipo de prótese removível utilizada, gênero e idade. Barcellos et al.22 relataram que a má adaptação da prótese inferior (falta de estabilidade e retenção) apresenta relação significativa com lesões situadas no maxilar inferior, ressaltando, também, que a origem de lesões bucais classificadas como decorrentes de próteses são multifatoriais, considerando a associação dos diversos fatores observados no seu estudo.
Bomfim et al.10 relatam que 54,2% das próteses avaliadas em sua investigação estavam quebradas, e Barcellos et al.22 informaram que 78,3% das próteses de avaliados apresentavam estado de conservação precário.
É importante enfatizar que a prótese deve ser removida diariamente por no mínimo 8 horas, a fim de viabilizar o descanso e o relaxamento da mucosa de suporte, além de evitar compressões desnecessárias. Após a remoção, a prótese deve ser corretamente higienizada
e armazenada, imersa em água, para prevenir a proliferação de microrganismos e mudanças dimensionais pela desidratação do acrílico12. Essa informação é corroborada por Shigli et al.19, cujo estudo apontou que 77,1% de seus entrevistados fazem a remoção da prótese antes de dormir e que 89,9% armazenam-na em um recipiente com água.
A partir dos resultados obtidos, pôde-se observar que 75,8% pacientes eram acometidos por lesões bucais, sendo as principais diagnosticadas a úlcera traumática, a queilite angular, a hiperplasia fibrosa inflamatória e a estomatite protética, sendo esta última a lesão mais presente, representando 53,31% dos casos.
Pôde-se perceber, também, que lesões em usuários de próteses removíveis eram mais presentes quando foi verificada má higienização e adaptação das próteses, corroborando diversos estudos que afirmam que essas variáveis são classificadas como condições de grande relevância para o surgimento das alterações bucais.
Tendo em vista o alto número de pacientes que apresentaram lesões bucais, inclusive a suspeita de um caso de lesão potencialmente maligna, torna-se necessária a realização de mais pesquisas, com uma amostragem maior, objetivando estabelecer a correlação entre fatores associados e lesões bucais a fim de estabelecer políticas públicas de saúde voltadas à prevenção e ao tratamento dessas alterações, visando a uma melhor qualidade vida e quadro de saúde para a população.
1. Concepção do projeto, análise e interpretação dos dados: João Rubens Teixeira de Castro Silva, Ana Conceição de Oliveira Cravo Teixeira e Larissa Rolim Borges-Paluch.
2. Redação do artigo e revisão crítica relevante do conteúdo intelectual: João Rubens Teixeira de Castro Silva, Ana Conceição de Oliveira Cravo Teixeira e Larissa Rolim Borges-Paluch.
3. Revisão e/ou aprovação final da versão a ser publicada: José Carlos Barbosa Andrade Júnior, Paulo Henrique da Silva e Ana Conceição de Oliveira Cravo Teixeira.
4. Ser responsável por todos os aspectos do trabalho na garantia da exatidão e integridade de qualquer parte da obra: João Rubens Teixeira de Castro Silva, Ana Conceição de Oliveira Cravo Teixeira.
1. Barbato PR, Nagano HCM, Zanchet FN, Boing AF, Peres MA. Perdas dentárias e fatores sociais, demográficos e de serviços associados em adultos brasileiros: uma análise dos dados do Estudo Epidemiológico Nacional (Projeto SB Brasil 2002-2003). Cad Saúde Pública. 2007;23(8):1803-14.
2. Kaplan P. Flexible removable partial dentures: design and clasp concepts. Dent Today. 2008;7(12):120-2.
3. Gonçalves TMSV, Campos CH, Garcia RCMR. Implant retention and support for distal extension partial removable dental prostheses: satisfaction outcomes. J Prosthet Dent. 2014;112(2):334-9.
4. Gonçalves LFF, Silva Neto DR, Bonan RF, Carlo HL, Batista AUD. Higienização de próteses totais e parciais removíveis. Rev Bras Ciênc Saúde. 2011;15(1):87-94.
5. Falcão MML, Alves TDB, Freitas VS, Coelho TCB. Conhecimento dos cirurgiões-dentistas em relação ao câncer bucal. RGO. 2010;58(1):27-33.
6. Neville BW. Patologia oral e maxilofacial. 3a ed. Rio de Janeiro (RJ): Elsevier; 2009.
7. Ramos JS. Ciência e racismo: uma leitura crítica em raça e assimilação em Oliveira Viana. Hist Ciênc Saúde. 2003;10(2):573-601.
8. Brasil. Ministério da Saúde. SB Brasil 2010: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: resultados principais. Brasília (DF); 2012.
9. Santos MJ, Santana CL, Andrade RCDV, Lima e Fraga T, Prado FO. Prevalência de lesões microbianas bucais em usuários de prótese dentária cadastrados em uma Unidade de Saúde da Família de Jequié – BA. Arch Health Invest. 2016;5(3):176-81.
10. Bomfim IPR, Soares DG, Tavares GR, Santos RC, Araújo TP, Padilha WWN. Prevalência de lesões de mucosa bucal em pacientes portadores de prótese dentária. Pesqui Bras Odontopediatria Clín Integr. 2008;8(1):117-21.
11. Medeiros FCD, Araújo-Silva TF, Ferreira KA, Oliveira-Moura JMB, CavalcantiLima IP, Guerra-Seabra EJ. Uso de prótese dentária e sua relação com lesões bucais. Rev Salud Pública. 2015;17(4):603-11.
12. Nóbrega DRM, Medeiros LADM, Farias TSS, Meira KRS, Mahon SMOD. Avaliação da utilização e hábitos de higiene em usuários de prótese dentária removível. Rev Bras Odontol. 2016;73(3):193-7.
13. Souza EHA, Oliveira PAP, Paegle AC, Goes PSA. Raça e o uso dos serviços de saúde bucal por idosos. Ciênc Saúde Colet. 2012;17(8):2063-70.
14. Pilger C, Menon MH, Mathias TAF. Características sociodemográficas e de saúde de idosos: contribuições para os serviços de saúde. Rev Latinoam Enferm. 2011;19(5):1230-8.
15. Bonfá K, Mestriner SF, Fumagalli IHT, Mesquita LP, Bulgarelli AF. Percepção de cuidadores de idosos sobre saúde bucal na atenção domiciliar. Rev Bras Geriatr Gerontol. 2017;20(5):651-60.
16. Saha A, Dutta S, Varghese RK, Kharsan V, Agrawal A. A survey assessing modes of maintaining denture hygiene among elderly patients. J Int Soc Prev Community Dent. 2014 Set;4(3):145-8.
17. Memon AB, Shaikh IA, Jabbar A, Sahito MA, Memon MY. Oral hygiene habits among the complete denture wearer patients visiting the Isra Dental College Hyderabad. Pak Oral Dent J. 2014;34(4):676-9.
18. Rathee M, Hooda A, Ghalaut P. Denture hygiene in geriatric persons. Internet J Geriatr Gerontol. 2009;6(1):1-5.
19. Shigli K, Hebbal M, Sajjan S, Agrawal N. The knowledge, attitude and practice of edentulous patients attending a dental institute in India regarding care of their dental prostheses. SADJ. 2015;70(7):294-9.
20. Paraguassú GM, Pimentel PA, Santos AR, Gurgel CAS, Sarmento VA. Prevalência de lesões bucais associadas ao uso de próteses dentárias removíveis em um serviço de estomatologia. Rev Cuba Estomatol. 2011;48(3):268-76.
21. Maciel SSSV, Souza RSV, Donato LMA, Albuquerque ÍGM, Donato LFA. Prevalência das lesões de tecidos moles causadas por próteses removíveis nos pacientes da Faculdade de Odontologia de Caruaru, PE, Brasil. Pesqui Bras Odontopediatria Clín Integr. 2008;8(1):93-7.
22. Barcellos ASP, Kimpara ET, Faria JCB, Monteiro JB, Almeida Carvalho RL. Avaliação dos hábitos de higiene bucal em portadores de prótese total associados à prevalência de lesões bucais. HU Rev. 2017;43(1):33-8.
23. Trindade MGF, Oliveira MC, Prado JP, Santana LLP. Lesões associadas à má adaptação e má higienização da prótese total. Id On Line Rev Multidiscip Psicol. 2018;12(42):956-68.
24. Arnaud RR, Soares MSM, Santos MGC, Santos RC. Estomatite protética: prevalência e correlação com idade e gênero. Rev Bras Ciênc Saúde. 2012;16(1):59-62.
Recebido: 28.5.2019. Aprovado: 6.7.2020.
Resumo
A população infantil é considerada o grupo mais vulnerável aos diversos tipos de violência, este fato gera danos físicos e psicológicos, dentre outras consequências para a sociedade em geral. O estudo objetivou identificar o perfil epidemiológico de violência contra a criança e adolescente, com dados registrados no período de 2012 a 2016 no Estado do Paraná. Trata-se de um estudo quantitativo, retrospectivo de base documental. A base de dados foi produzida a partir da confirmação da notificação “Violência doméstica, sexual e/ou outras violências”, disponível no Sistema de Informação de Agravos de Notificação entre janeiro de 2012 a dezembro de 2016 no Estado do Paraná, de crianças e adolescentes com idade entre 0 a 19 anos. Totalizaram 48.870 casos de violência contra crianças e adolescentes, com aumento do número de casos conforme os anos. Os casos prevaleceram no sexo feminino, com prevalência específica de 166,2 a cada 10 mil, faixa etária entre 0 e 4 anos, com 177,4 a cada 10 mil, na raça negra seguida pela indígena, com 205,5 e 162,7, respectivamente, a cada 10 mil. Das regionais de saúde, o maior número ocorreu na 2ª (Metropolitana), com 314,2 a cada 10 mil crianças e adolescentes. Conclui-se que a notificação é uma das principais ferramentas no processo de enfrentamento da violência e que o estudo permite o conhecimento dos casos de violência contra a criança e adolescente no estado do Paraná e proporciona o debate que contribui para qualificação das ações que previnam e detectem a violência em cada região específica do estado.
Palavras-chave: Maus-tratos infantis. Saúde da criança. Defesa da criança e do adolescente.
a Enfermeira. Mestranda em Enfermagem pela Universidade Federal do Paraná. Curitiba, Paraná, Brasil. E-mail: biancafoguiar@hotmail.com
b Enfermeiro. Mestre em Biotecnologia Aplicada à Saúde da Criança e do Adolescente. Curitiba, Paraná, Brasil. E-mail: leandrorozin@hotmail.com
c Enfermeira. Doutoranda em Enfermagem pela Universidade Federal do Paraná. Curitiba, Paraná, Brasil. E-mail: luanatonin@gmail.com
Endereço para correspondência: Rua Maranhão, n. 1.435, Água Verde. Curitiba, Paraná, Brasil. CEP: 80610-000. E-mail: biancafoguiar@hotmail.com
Introduction: the child population is considered the group most vulnerable to various types of violence, which causes physical and psychological damage, among other consequences for society in general. Objective: to identify the epidemiological profile of violence against children and adolescents between 2012 and 2016 in the state of Paraná. Method: this is a quantitative, retrospective, documentary study. The database was produced with the confirmation of the notification “Domestic violence, sexual and/or other violence”, available in the System of Information of Notifiable Diseases between January 2012 and December 2016 in the state of Paraná, for children and adolescents aged 0 to 19 years. Results: There were 48,870 cases of violence against children and adolescents, with an increase in the number of cases throughout the years. The cases prevailed for girls with a specific prevalence of 166.2 per 10,000, between 0 and 4 years of age, with 177.4 (every 10,000), in the black people followed by indigenous people, with 205.5 and 162.7 consecutively (every 10,000). Of the regional health centers, the highest number occurred in the 2nd (Metropolitan), with 314.2 per 10,000 children and adolescents.
Conclusion: notification is one of the main tools in the process of coping with violence, and its study allows the knowledge of cases of violence against children and adolescents in the state of Paraná, provides discussion contributing to the qualification of actions that prevent and detect violence in each specific region of the state.
Keywords: Child abuse. Child health. Defense of children and adolescents.
CARACTERIZACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA EL NIÑO Y EL ADOLESCENTE EN EL ESTADO DEL PARANÁ
La población infantil se considera como el grupo más vulnerable a los diversos tipos de violencia, lo que ocasiona daños físicos y psicológicos, entre otras consecuencias para la sociedad en general. Este estudio objetivó identificar el perfil epidemiológico de violencia contra el niño y el adolescente, registrado en el período de 2012 a 2016 en el estado de Paraná. Este es un estudio cuantitativo, retrospectivo de base documental. La base de datos se formó a partir de la confirmación de las notificaciones de “Violencia doméstica, sexual y/u otras violencias” sufrida por
niños y adolescentes de entre 0 y 19 años, las cuales se encontraban disponibles en el Sistema de Información de Agravios de Notificación, entre enero de 2012 y diciembre de 2016, en el estado de Paraná. Totalizaron 48.870 casos de violencia contra niños y adolescentes, con aumento en el número de casos según los años. Los casos prevalecieron en el sexo femenino (166,2 cada 10 mil), con rango de edad entre 0 y 4 años (177,4 cada 10 mil) y en la raza negra seguida por la indígena con 205,5 y 162,7, respectivamente, cada 10 mil. De las regionales de salud, el mayor número ocurrió en la 2ª Metropolitana, con 314,2 cada 10 mil niños y adolescentes. Se concluye que la notificación es una de las principales herramientas en el proceso de enfrentamiento de la violencia y que el estudio permite identificar los casos de violencia contra el niño y el adolescente en el estado de Paraná, además de propiciar el debate que contribuye a la calificación de las acciones de prevención y detección de la violencia en cada región específica del estado.
Palabras clave: Maltrato a los niños. Salud del niño. Defensa del niño y del adolescente.
Dentre os grupos mais vulneráveis à violência, encontram-se as crianças e os adolescentes, devido às suas fragilidades e vulnerabilidades inerentes à própria infância e ao adolescer. Dessa forma, diante das peculiaridades e complexidades que envolvem a violência, esta vem sendo reconhecida como uma questão social e de saúde pública devido à magnitude da violação aos direitos humanos. Ela acompanha o homem desde tempos primordiais, mas, a cada tempo, se manifesta de formas e em circunstâncias diferentes1
No Brasil, segundo a Sociedade Internacional de Prevenção ao Abuso e Negligência na Infância, no ano de 2009, entre as vítimas de qualquer tipo de violência estavam nesta estimativa 12% das 55,6 milhões de crianças menores de 14 anos2. De acordo com a Secretaria do Estado de Segurança Pública (Sesp), em 2016, o Paraná registrou por dia em média 36 casos novos de violência contra crianças e adolescentes3. Este fato gera danos de ordem física e psicológica, dentre outras consequências para a sociedade em geral4
Pode-se definir a violência como o uso da força física ou do poder, contra si próprio, contra outra pessoa ou contra um grupo, que resulte ou tenha qualquer possibilidade de lesão, morte, dano psicológico ou deficiência de desenvolvimento. Considera-se que os infantes sejam o grupo mais exposto e vulnerável à violência, pois passam por uma fase no desenvolvimento no qual ocorrem mudanças físicas e psicológicas5. A violência pode ser praticada de diversas maneiras, por diferentes atores e em distintos lugares, sendo classificada como:
violência física; psicológica; sexual; e negligência. Qualquer que seja o tipo, além de resultar em danos físicos e/ou psicológicos, leva ao prejuízo do crescimento e desenvolvimento das crianças e adolescentes6
O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) considera a violência contra crianças e adolescentes como caso de agravo com obrigatoriedade de notificação e de direção aos órgãos competentes. Quando constatada, pelos profissionais de saúde, a violência contra criança e adolescente deve ser notificada de imediato, obrigação prevista pelo Estatuto da Criança e Adolescentes (ECA)7. Com base nos dados epidemiológicos brasileiros, nota-se a necessidade de promover ações por meio de condutas preventivas, pelos setores sociais envolvidos, bem como profissionais de saúde, conselhos tutelares, entre outros8
A realização da notificação dos agravos de violência deve ser compreendida como instrumento de garantia de direitos e de proteção social de crianças e adolescentes, permitindo aos profissionais de saúde, de educação, da assistência social, assim como os conselhos tutelares e a justiça, adotarem medidas imediatas para cessar a violência. O processo de apoio às crianças e adolescentes vítimas de violência formam um conjunto de atendimentos à pessoa que sofreu o dano e a seus familiares, que conduzem à eficaz resolução dos problemas manifestados, além da promoção da garantia de seus direitos6.
A violência acarreta em problemas sociais, emocionais, psicológicos e cognitivos, fazendo também com que as vítimas apresentem comportamentos prejudiciais à saúde. Em geral, observa-se o abuso de substâncias psicoativas, do álcool e outras drogas e da iniciação precoce à atividade sexual, tornando-os mais vulneráveis à gravidez precoce, à exploração sexual e à prostituição9
Dados essenciais da ação violenta, natureza da agressão (como, quando e onde) e relação entre vítima e agressor são essenciais para delinear a causalidade e traçar estratégias de enfrentamento. O campo de estudos interdisciplinares que relacionam violência e saúde e o impacto que aquela causa no bem estar e qualidade de vida tem se intensificado, com propostas de intervenção, prevenção e redução da violência1
Para ampliar o entendimento e a discussão do impacto da violência nessa faixa etária de vulnerabilidade, faz-se necessária a análise do perfil epidemiológico desse relevante agravo, a fim de corroborar com a comunidade sócia científica e legal, para subsídios de ações preventivas e de controle que garantam efetivamente o direito à saúde, à proteção e à vida de crianças e adolescentes. Importante conhecer as ocorrências e sua distribuição no território paranaense para a identificação de áreas com maior vulnerabilidade. Diante desse debate, este estudo teve como objetivo identificar o perfil epidemiológico de violência contra a
criança e o adolescente entre 0 e 19 anos, com dados registrados no período de 2012 a 2016 no estado do Paraná.
Trata-se de um estudo quantitativo, retrospectivo de base documental, baseado em notificações de violência contra a criança e o adolescente no estado do Paraná, no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2016.
A base de dados foi produzida a partir do preenchimento da ficha de notificação “Violência doméstica, sexual e/ou outras violências”, disponível no Sinan. Todos os serviços de saúde, centros de referência para violências, ambulatórios especializados, dentre outros, são responsáveis pela notificação dos casos. As secretarias municipais de saúde dos municípios de ocorrência do agravo realizam o processamento dos dados no sistema de informação e, posteriormente, sua transferência para as esferas regional, estadual e federal, de modo a compor a base de dados nacional.
Logo a pesquisa foi desenvolvida mediante acesso e uso do sistema informatizado do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus), que possui os dados do Sinan. Foram analisadas notificações do Estado do Paraná, entre os anos de 2012 a 2016 de crianças e adolescentes com idade entre 0 a 19 anos. As variáveis de coleta foram sexo, raça, local de ocorrência, tipo da violência, agressor, Regional de Saúde (RS) de notificação e evolução do caso. Para este estudo, considerou-se o conceito de criança como aqueles com idade inferior a 10 anos e adolescente como aqueles entre 10 e 19 anos, conforme estabelece a Organização Mundial da Saúde (OMS)10
A definição do ano inicial em 2012 se deu por existirem dados fidedignos, pois a notificação de violências passou a ser compulsória, a partir da publicação da Portaria de nº 104, de 25 de janeiro de 201111. O ano final de 2016 por ser o ano com dados mais recentes disponíveis no Sinan.
Posteriormente os dados coletados foram agrupados, permitindo assim a análise do perfil epidemiológico dos casos de violência contra a criança e o adolescente. Dessa forma, a técnica para a análise estatística foi a regressão logística, que objetiva identificar estimativas e previsões por meio de dados de variáveis quantificáveis. Para analisá-los foi utilizado o software Excel 2010®, por meio da estatística simples e cálculo de prevalência, apresentados em forma de número, porcentagem e prevalência a cada 10 mil crianças e adolescentes. Por se tratar de uma ação permanente de vigilância epidemiológica instituída pelo Ministério da Saúde em todo o território nacional, não foi necessário solicitar parecer de Comitê de Ética em Pesquisa (CEP).
No período de estudo, foram notificados 48.870 casos de violência contra crianças e adolescentes no Estado do Paraná. Ao analisar a distribuição entre os anos de 2012 a 2016 na Tabela 1, é possível notar aumento constante de casos: em 2012 foram notificados
7.094 (14,49%) e em 2016 foram 12.037 (24,59%), a crescente de casos é confirmada com base nos cálculos de prevalência, analisada a cada 10 mil crianças e adolescentes. Identificou-se também clara prevalência de acometimento entre o sexo feminino, com 27.486 (56,24%) dos casos, resultando em 166,2 a cada 10 mil crianças e adolescentes do sexo feminino.
Tabela 1 – Distribuição das notificações de violência contra a criança e adolescente conforme ano, sexo, faixa etária e raça
n Frequência em % População de crianças e adolescentes
A faixa etária que prevalece na frequência é na adolescência, entre 10 a 19 anos. Porém, quando se analisa as faixas etárias com base no cálculo da prevalência, que utiliza do total da população em idade específica, o maior número da ocorrência da violência ocorreu entre crianças com idade entre 0 e 4 anos de vida, 177,4 a cada 10 mil crianças nessa faixa etária. A análise da raça ainda é mais expressiva, a que possui a maior frequência entre as
notificações foi branca, com 32.121 (73,04%) dos casos. Porém, com o cálculo de prevalência é possível verificar a vulnerabilidade real entre as raças, prevalecendo maior acometimento da violência contra crianças e adolescentes da raça negra com 205,5 casos a cada 10 mil, seguida pela indígena com 162,7/10 mil indígenas dessa faixa etária (Tabela 1).
Com base nas notificações, o Estado do Paraná teve 145,1 casos a cada 10 mil crianças e adolescentes entre os anos de 2012 e 2016. Entre as 22 regionais de saúde do Estado do Paraná, a 2ª RS obteve significativamente maior número de notificações, 32.259 (66,13%). A regional contempla Curitiba e região metropolitana. O resultado é confirmado quando analisado conforme número da população de crianças e adolescentes (de 0 a 19 anos) em cada região, 314,2 casos a cada 10 mil, seguido pela 4ª RS de Irati, 9ª regional de Foz do Iguaçu e 10ª RS de Cascavel (Tabela 2).
Ao analisar os tipos de violência, na Tabela 3, é possível verificar prevalência do tipo negligência e abandono com 24.379 (36,96%), seguido pela violência física com 17.170 (26,03%). O local de ocorrência da violência prevaleceu claramente na residência
das crianças e adolescentes, com p número de 33.579 (75,59%). Os principais agressores dos casos notificados foram mães (44,60%) e pais (29,90%). Na análise da evolução dos casos notificados, observa-se que a maior frequência obtida foi dos casos ignorados ou brancos com 35.239 (72,18%), ou seja, sem acompanhamento do desfecho do caso. Altas resultaram em 12.896 (26,41%) e óbitos decorrentes dessa causa em 161 (0,33%) dos casos.
Tabela 3 – Distribuição das notificações de violência contra a criança e adolescente conforme o tipo e local da violência e a evolução do caso
Notou-se aumento gradual conforme os anos de notificações de violências contra crianças e adolescentes no Paraná. Existem duas possibilidades, uma em que o número de casos veio aumentando, e a outra hipótese se dá pela sensibilização dos profissionais no preenchimento dos dados das fichas de notificação. Dados estes que corroboram com um estudo realizado em Porto Velho (RO) no ano de 2017, que demonstra aumento de notificações com o passar dos anos após a implantação da notificação da violência compulsória e obrigatória. Entre crianças e
adolescentes, o sexo feminino e a raça negra também prevaleceram. A maior taxa da violência, analisada pelas percentagens comparativas as outras faixas etárias, foi entre 10 a 14 anos14 Porém, vale lembrar que a prevalência é fidedigna apenas quando calculada pelo número da população exposta ao risco, e nosso estudo evidencia que crianças de 0 a 4 anos foram as maiores vítimas da violência quando comparadas entre o total da população dessa faixa etária.
Os dados identificaram a maior frequência de casos na raça branca, justificada por ser a raça de prevalência dos paranaenses, porém em análise da prevalência, foi possível evidenciar que a raça negra foi a mais acometida, seguida por indígenas. A violência e a vitimização tendem a seguir um padrão étnico, tendo os negros e indígenas como destaque, haja vista que esses ocupam lugares divergentes na sociedade quando comparados aos brancos. Os negros apresentam experiências desiguais, com desequilíbrios que os levam às diversas iniquidades sociais, expressas pelas desigualdades social e racial15,16
Estudos nacionais concluem que as crianças negras são mais vulneráveis à violência, ao considerar a prevalência. Alguns estudos realizados no centro e no sul do Brasil encontraram maior frequência em brancos, outros realizados no norte e nordeste encontraram a maior frequência em negros. Vale lembrar que não apenas a frequência dos casos deve ser analisada, mas também os padrões étnico-demográficos e a vulnerabilidade de raças17-19
Os agravos de notificação compulsória são aqueles que devem, obrigatoriamente, ser comunicados às autoridades de saúde local. As notificações devem ser realizadas pelos profissionais de saúde, da esfera pública ou privada, em caso de suspeita ou confirmação. Esta ferramenta é importante no processo de enfrentamento da violência infanto-juvenil, visto que a partir dela é possível realizar ações nas redes de atenção e proteção, voltadas para a promoção e a prevenção da violência20,21
Quanto às regiões de saúde que mais tiveram notificações de violência, foram a Metropolitana, de Irati, de Foz do Iguaçu e Cascavel, consecutivamente. Destaca-se que a 2ª RS (Metropolitana) envolve o município de Curitiba e este conta com a articulação da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente na notificação e enfrentamento do agravo22. Ressalta-se a importância da Rede de Proteção não só para Curitiba, mas também para os demais municípios do estado do Paraná, pois, em alguns locais, não há serviços de referência articulados em rede que visem à identificação e a medidas de prevenção e acompanhamento dos casos23
A violência por negligência e abandono e a física foram as mais frequentes no Paraná, ocorridas em prevalência no local da residência e por figuras materna e/ou paterna. Desta forma, discute-se que rotineiramente crianças e adolescentes se tornam vítimas de algum
tipo de violência dentro da própria residência, fato muitas vezes protagonizado por pessoas próximas, como os pais ou responsáveis24.
Ressalta-se que a negligência apresenta um caráter de difícil identificação, pois envolve aspectos culturais, sociais e econômicos de cada família, já a violência física e sexual tem repercussão intensa na sociedade, por conta da existência de políticas públicas direcionadas a estes casos5,25. Dados semelhantes também foram encontrados em outros estudos realizados internacionalmente nesta temática26,27.
Em diversos estudos o domicílio foi o principal local de ocorrência da violência infantil, sendo associado o agressor como pessoa próxima da criança, muitas vezes da própria família, contrapondo-se à visão do ambiente familiar como um local de segurança, proteção e acolhimento da criança15,18,19
A violência praticada por pais, parentes ou responsáveis pela criança e pelo adolescente é comum, e resulta da transgressão do poder do adulto sobre a criança ou o adolescente, advinda da hierarquia que permite que o agressor se aproveite da vulnerabilidade da criança e do adolescente. Esta estrutura assimétrica de poder fundamenta-se na desigualdade geracional, pela diferença de faixa etária e de gênero, que historicamente aprova a superioridade do homem adulto sobre os menores1,20.
Quanto à evolução do caso, os dados se tornaram comprometidos, impedindo uma análise aprofundada devido às subnotificações dos registros, com campos ignorados ou deixados em branco pelos responsáveis pelo preenchimento. Apesar disso, notou-se que os casos que tiveram evolução para alta foram prevalentes. O fato da maioria dos casos não receberem um desfecho nos faz pensar em prejuízos na continuidade dos cuidados e monitoramento dos casos, ocasionando deficiências nos procedimentos e na qualidade dos dados notificados23. Tratando-se de estudo que utilizou notificações de agravo à saúde, é comum identificar em diversos estudos críticos em relação à qualidade do preenchimento –que é uma responsabilidade do profissional –, justificada por vezes por falta de tempo e pessoal para qualificar os procedimentos nos serviços de saúde20,21,28
Diante das peculiaridades que envolvem a violência infanto-juvenil, o tema está se tornando reconhecido como uma questão social e de saúde pública devido à magnitude da violação aos direitos humanos. Sabe-se que a ocorrência da violência durante o processo formativo, quando o cérebro está sendo fisicamente desenvolvido, pode deixar marcas em sua estrutura e função, provocando efeitos que alteram, de modo irreversível, o desenvolvimento neuronal, levando a severas consequências no desenvolvimento da criança e do adolescente, incluindo prejuízos cognitivos, emocionais, comportamentais e sociais1,8,10.
A violência é um fenômeno multifacetado, verificado em todas as comunidades, desde a Antiguidade. A violência contra a criança e o adolescente constitui um problema mundial e traz consequências negativas no processo de crescimento e desenvolvimento infantil. Considerando que os objetivos desse trabalho foram conhecer o perfil epidemiológico da violência contra a criança e o adolescente para subsidiar ações de enfrentamento com base no direito a saúde e vida, entendeu-se que os objetivos foram alcançados.
A pesquisa possibilitou constatar que as notificações de violência vêm crescendo, acreditando-se que seja pela sensibilização dos profissionais de saúde com o agravo obrigatório. Verificou-se que a prevalência dos casos ocorreu entre crianças e adolescentes do sexo feminino, na faixa etária de maior vulnerabilidade, entre 0 a 4 anos, e da raça negra, seguida pela indígena. O maior número de casos foi notificado na 2ª RS (Metropolitana), que abrange também a maior população do Estado do Paraná. A negligência e o abandono foram os tipos de violência mais notificados, sendo o local da ocorrência a própria residência da vítima, o principal agressor é a mãe, seguida do pai. Também foram constadas inúmeras subnotificações, principalmente na evolução dos casos.
Como limitação desse estudo, destaca-se o seu recorte temporal, a possível ocorrência de sub-registros das notificações, sobretudo quando é notado que as ações e políticas públicas para o enfrentamento da questão têm como base os dados epidemiológicos. Porém, a notificação é uma das principais ferramentas no processo de enfrentamento da violência, pois a partir dela derivam ações no âmbito das redes de atenção e proteção, voltadas para promoção, prevenção de reincidências e estabelecimento de uma linha de cuidado às pessoas em situação de violência.
Esse estudo também possui relevância social, pois ao permitir o conhecimento estatístico dos casos de violência que vitimiza crianças e adolescentes no estado do Paraná, proporciona a ampliação das discussões que contribuem para qualificação de ações que previnam e detectem a violência em cada região específica do estado. Sugere-se que em pesquisas futuras seja realizado o desfecho do acompanhamento dos casos notificados, bem como a promoção da conscientização dos profissionais em realizar as notificações e de forma correta.
1. Concepção do projeto, análise e interpretação dos dados: Bianca Fontana Aguiar e Leandro Rozin.
2. Redação do artigo e revisão crítica relevante do conteúdo intelectual: Leandro Rozin e Luana Tonin.
3. Revisão e/ou aprovação final da versão a ser publicada: Luana Tonin.
4. Ser responsável por todos os aspectos do trabalho na garantia da exatidão e integridade de qualquer parte da obra: Bianca Fontana Aguiar, Leandro Rozin e Luana Tonin.
1. França SG. Dignidade humana como direito ao desenvolvimento da criança e do adolescente em conflito com a lei no município de Rio Verde/GO [dissertação]. Goiânia (GO): Pontifícia Universidade Católica de Goiás; 2016.
2. Fundo das Nações Unidas para a Infância. Protocolo de atenção integral a crianças e adolescentes vítimas de violência [Internet]. Brasília (DF): Escritório da Representação do Unicef no Brasil; 2012 [citado em 2018 nov 10]. Disponível em: https://crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/unicef/ protocolo_atencao_criancas_vitimas_violencia.pdf
3. Paraná. Secretaria de Segurança Pública do Paraná. Relatório estatístico criminal quantitativo de vítimas de crimes relativos à morte. Curitiba (PR); 2016.
4. Mascarenhas MDM, Monteiro RA, Sá NB, Gonzaga LAA, Neves ACM, Silva MMA, et al. Epidemiologia das causas externas no Brasil: mortalidade por acidentes e violências no período de 2000 a 2009. In: Brasil. Saúde Brasil 2010: uma análise da situação de saúde e de evidências selecionadas de impacto de ações de vigilância em saúde. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2011.
5. Nunes AJ, Sales MCV. Violência contra crianças no cenário brasileiro. Ciênc Saúde Colet. 2016;21(3):871-80.
6. Brasil. Ministério da Saúde. Impacto da violência na saúde das crianças e adolescentes: prevenção de violências e promoção da cultura de paz [Internet]. Brasília (DF); 2008 [citado em 2019 jan 10]. Disponível em: http:// bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/impacto_violencia_saude_criancas_ adolescentes.pdf
7. Brasil. Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016. Dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância e altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil [Internet], Brasília (DF); 2016 mar 9 [citado em 2019 jan 10]. Seção 1, p. 1. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ ato2015-2018/2016/lei/l13257.htm
8. Brasil. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. Linha de cuidado para atenção integral à
saúde de crianças, adolescentes e suas famílias em situação de violências [Internet]. Brasília (DF); 2012 [citado em 2018 out 10]. Disponível em: http://bvsms.saude. gov.br/bvs/publicacoes/linha_cuidado_criancas_familias_violencias.pdf
9. Faria MRGV, Silva AA, Zanini D. Violência em contos infantis e na vida real. Fragmentos Cult. 2013;23(3):255-67.
10. World Health Organization. Young people’s health: a challenge for society report of a study group on young people and health for all by the year 2000 [Internet]. Technical Report Series, n. 731. Genebra; 1986 [citado em 2019 fev 7]. Disponível em: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/41720/1/ WHO_TRS_731.pdf
11. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria de nº 104, de 25 de janeiro de 2011. Define as terminologias adotadas em legislação nacional, conforme o disposto no Regulamento Sanitário Internacional 2005 (RSI 2005), a relação de doenças, agravos e eventos em saúde pública de notificação compulsória em todo o território nacional e estabelece fluxo, critérios, responsabilidades e atribuições aos profissionais e serviços de saúde. Brasília (DF); 2011.
12. Portal Sinan: Sistema de Informação de Agravos de Notificação [Internet]. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2008 [citado em 2020 ago 26]. Disponível em: https://portalsinan.saude.gov.br/
13. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico 2010. Rio de Janeiro (RJ); 2011.
14. Moreira KFA, Oliveira DM, Oliveira CAB, Alencar LN, Orfão NH, Santos FE. Perfil das crianças e adolescentes vítimas de violência. Rev Enferm UFPE. 2017;11(11):4410-7.
15. Almeida LAA, Sousa LS, Sousa KAA. Epidemiologia da violência infantil em um estado do nordeste do Brasil: série histórica de 2007 a 2016. Rev Prev Infecç Saúde. 2017;3(2):27-33.
16. Rates SMM, Melo EM, Mascarenhas MDM, Malta DC. Violência infantil: uma análise das notificações compulsórias, Brasil 2011. Ciênc Saúde Colet. 2015;20(3):655-65.
17. Cervantes GV, Jornada LK, Trevisol FS. Perfil epidemiológico das vítimas de violência notificadas pela 20ª gerência regional de saúde de Tubarão, SC. Rev AMRIGS. 2012;56(4):325-9.
18. Platt VB, Back IC, Hauschild DB, Guedert JM. Violência sexual contra crianças: autores, vítimas e consequências. Ciênc Saúde Colet. 2018;23(4):1019-31.
19. Oliveira JR, Costa COM, Amaral MTR, Santos CA, Assis SG, Nascimento OC. Violência sexual e ocorrências em crianças e adolescentes: estudo das incidências ao longo de uma década. Ciênc Saúde Colet. 2014;19(3):759-71.
20. Egry EY, Apostolico MR, Morais TCP. Notificação da violência infantil, fluxos de atenção e processo de trabalho dos profissionais da atenção primária em saúde. Ciênc Saúde Colet. 2018;23(1):83-92.
21. Silva PA, Lunardi VL, Lunardi GL, Arejano CB, Ximenes AS, Ribeiro JP. Violência contra crianças e adolescentes: características dos casos notificados em um Centro de Referência do Sul do Brasil. Enferm Glob. 2017;46(1):419-31.
22. Curitiba. Secretaria Municipal de Saúde. Protocolo da rede de proteção à criança e ao adolescente em situação de risco para a violência [Internet]. 3a ed. Curitiba (PR); 2008 [citado em 2019 fev 7]. Disponível em: https://crianca.mppr.mp.br/ arquivos/File/publi/pmc/protocolo_rede_de_protecao_a_crianca.pdf
23. Gessner R. Violência contra o adolescente: uma análise à luz das categorias gênero e geração [dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo; 2013.
24. Barros AS, Freitas MFQ. Violência doméstica contra crianças e adolescentes: consequências e estratégias de prevenção com pais agressores. Pensando Fam. 2015;19(2):102-14.
25. Pinto AA Jr, Borges VC, Santos JG. Caracterização da violência doméstica contra crianças e adolescentes e as estratégias interventivas em um município do estado do Rio de Janeiro, Brasil. Cad Saúde Colet. 2015;23(2):124-31.
26. Christoffersen MN, Armour C, Lasgaard M, Andersen TE, Elklit A. The prevalence of four types of childhood maltreatment in denmark. Clin Pract Epidemol Ment Health. 2013;9(1):149-56.
27. Finkelhor D, Vanderminden J, Turner H, Hamby S, Shattuck A. Child maltreatment rates assessed in a national household survey of caregivers and youth. Child Abuse Negl. 2014;38(9):1421-35.
28. Lima MDCCS, Costa MCO, Bigras M, Santana MAO, Alves TDB, Nascimento OC, Silva MR. Atuação profissional da atenção básica de saúde face à identificação e notificação da violência infanto-juvenil. Rev Baiana Saúde Pública. 2011;35(1):118-37.
Recebido: 7.2.2019. Aprovado: 8.7.2020.
Lorrayne Belottia
Carolina Dutra Degli Espostib
Izabela Marquezini Cabralc
Karina Tonini dos Santos Pachecod
Adauto Emmerich Oliveirae
Edson Theodoro dos Santos Netof
A elaboração, formulação, execução e avaliação da qualidade da água, com envolvimento ativo da população, é fundamental para melhorar o modelo vigente de vigilância. O objetivo deste estudo foi analisar as informações disponíveis sobre o heterocontrole e controle da fluoretação da água para abastecimento público em uma região metropolitana brasileira. Foi realizado levantamento de documentos de gestão, de trabalhos científicos que incluiu textos nas línguas portuguesa e inglesa publicados entre 1953 e 2015, e de informações nos sites das prefeituras e da empresa de abastecimento. Foram identificados: o ano do levantamento dos dados; número de municípios incluídos; tema principal; autores/instituições; método de pesquisa; análise de concentração do fluoreto e qual o nível encontrado. Para as informações encontradas nos sites identificou-se o ano, a fonte, característica e trecho principal. Cinco textos científicos foram identificados referentes ao tema nos municípios estudados, além de informações baseadas em relatórios
a Cirurgiã-dentista. Doutoranda em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo. Bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. São Paulo, São Paulo, Brasil. E-mail: lorraynebelotti@usp.br
b Cirurgiã-dentista. Doutora em Saúde Pública. Professora adjunta da Universidade Federal do Espírito Santo. Vitória, Espírito Santo, Brasil. E-mail: carolinaesposti@gmail.com
c Cirurgiã-dentista. Vitória, Espírito Santo, Brasil. E-mail: belamarquezini@hotmail.com
d Cirurgiã-dentista. Doutora em Odontologia Preventiva e Social. Professora adjunta da Universidade Federal do Espírito Santo. Vitória, Espírito Santo, Brasil. E-mail: kktonini@yahoo.com.br
e Cirurgião-dentista. Doutor em Odontologia. Professor adjunto da Universidade Federal do Espírito Santo. Vitória, Espírito Santo, Brasil. E-mail: adautoemmerich@terra.com.br
f Cirurgião-dentista. Doutor em Epidemiologia. Professor adjunto da Universidade Federal do Espírito Santo. Vitória, Espírito Santo, Brasil. E-mail: edsontheodoro@gmail.com
Endereço para correspondência: Universidade de São Paulo, Faculdade de Saúde Pública. Av. Dr. Arnaldo, n. 715, Cerqueira César. São Paulo, São Paulo, Brasil. CEP: 01246-904. E-mail: lorraynebelotti@usp.br
de gestão, disponíveis do Centro Colaborador do Ministério da Saúde em Vigilância da Saúde Bucal. As informações presentes nos sites da empresa e prefeituras eram superficiais e não foram encontrados dados de controle/heterocontrole da fluoretação. A socialização das informações sobre o controle da água e, em particular, sobre a fluoretação, é importante para inserir essa temática no debate sobre saúde bucal e para garantir a realização dessa política no resgate de uma água tratada, de qualidade, sem intermitência e com flúor. Palavras-chave: Vigilância sanitária ambiental. Controle da qualidade da água. Monitoramento da água. Fluoretação da água.
Abstract
The elaboration, formulation, execution, and evaluation of water quality, together with the active involvement of the population, is essential to improve the current surveillance model. This study analyzed the information available on the external and general control of public water supply fluoridation in a Brazilian metropolitan region. A survey of management documents and scientific articles was carried out including texts in Portuguese and English, published between 1953 and 2015. Additionally, the websites of the municipalities and the supply company were searched for information. For analysis, the year of data collection, the number of municipalities included, the main theme, the authors/institutions, the research method, the analysis and the level of fluoride concentration were identified. For the information found on the websites, the year, source, characteristics, and main section were identified. Five scientific texts and information based on management reports made available by the Collaborating Center of the Ministry of Health in Oral Health Surveillance were found. Information on the company and city hall websites was superficial and no fluoridation control and external control data were found. The socialization of information on water control and on fluoridation is important to insert this theme in the oral health debate. In addition, to support the continuity of this policy to rescue treated, quality water, without intermittence and with fluoride.
Keywords: Environmental health surveillance. Water quality control. Water monitoring. Fluoridation.
La elaboración, formulación, ejecución y evaluación de la calidad del agua, con la participación activa de la población, es fundamental para mejorar el modelo de vigilancia actual. El objetivo de este estudio fue analizar las informaciones disponibles sobre el heterocontrol y el control de la fluoración de agua de abastecimiento público en una región metropolitana brasileña. Se realizó una recogida de documentos de gestión y trabajos científicos, que incluyó textos en portugués e inglés publicados entre 1953 y 2015. También se buscó información en los sitios web de los ayuntamientos y la empresa de abastecimiento. Se identificaron los siguientes: el año de recolección de datos; número de municipios incluidos; tema principal; autores/instituciones; método de investigación; análisis de la concentración de fluoruro y qué nivel se encuentra. De las informaciones encontradas en los sitios web, se identificaron el año, la fuente, la característica y la parte principal. Se identificaron cinco textos científicos sobre el tema en los municipios estudiados, además de informaciones basadas en informes de gestión, disponibles en el Centro Colaborador del Ministerio de Salud en Vigilancia de la Salud Oral. Las informaciones en los sitios web de la empresa y de los ayuntamientos fueron superficiales y no se encontraron datos de control/heterocontrol de fluoración. La socialización de las informaciones sobre el control del agua y, en particular, sobre la fluoración, es importante para insertar este tema en el debate sobre la salud bucal y garantizar la realización de esa política en el rescate del agua tratada y de calidad, sin intermitente y con flúor. Palabras clave: Vigilancia sanitaria ambiental. Control de calidad del agua. Monitoreo del agua. Fluoración.
A fluoretação da água de abastecimento público é uma tecnologia de intervenção em saúde pública definida pelo ajuste da concentração do fluoreto, comprovadamente segura1 e efetiva na redução do índice de cárie na população2,3. Seu emprego justifica-se pela sua universalidade, visto que muitos segmentos da sociedade estão expostos à água potável servida pelos sistemas de abastecimento públicos4. Embora no Brasil a obrigatoriedade da fluoretação
onde existe estação de tratamento de água seja prevista em desde 1974, 34 anos depois cerca de um quarto de sua população não tinha acesso ao benefício5.
Em uma região fluoretada, para que o benefício da fluoretação da água de abastecimento público seja alcançado, é necessária a continuidade da medida ao longo do tempo e a manutenção regular dos teores do íon flúor considerados ótimos pré-estabelecidos6,7 A alta variação na concentração de fluoreto na água foi relatada no passado recente8, mas ainda pode ser encontrada atualmente9.
A manutenção da qualidade da fluoretação é de competência das empresas responsáveis pela operação do sistema de abastecimento de água e da vigilância ambiental em saúde, pautada pelo princípio de heterocontrole, que diz que se um bem ou serviço implica risco ou é fator de proteção para a saúde pública – além do controle do produtor sobre o processo de produção, distribuição e consumo – deve haver controle por parte do Estado10 Diversos estudos relatam a necessidade de reavaliação do sistema de vigilância da qualidade da água, uma vez que o modelo de vigilância atual possui entraves em relação à disseminação de suas informações para sociedade e à ausência de participação da sociedade para o controle social e exercício de cidadania11,12. Considerando que é fundamental que os dados e relatórios produzidos pela vigilância se tornem públicos13 para que ocorra a interação entre a vigilância e a população, o objetivo deste artigo foi analisar a produção e disponibilidade de informações sobre o controle e heterocontrole da fluoretação água de abastecimento público na região metropolitana do estado do Espírito Santo, Brasil.
Foi realizada uma revisão integrativa e análise documental sobre o controle e heterocontrole da fluoretação da água de abastecimento público produzidas de 1953 (ano de implementação desta medida no Espírito Santo) a 2015. O estudo abrangeu os sete municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV/ES): Cariacica, Fundão, Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória. Todos os municípios pesquisados distribuem água fluoretada por meio do abastecimento público.
A busca foi dividida em duas etapas: inicialmente o levantamento da produção científica foi realizado nas bases de dados da Biblioteca Regional de Medicina, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, Scientific Electronic Library Online e Publisher Medline. Como critérios de inclusão, foram selecionados textos nas línguas portuguesa e inglesa, publicados entre 1953 (ano da implementação dessa medida no Espírito Santo) e 2015,
utilizando-se as palavras-chave “controle da qualidade da água” e “fluoretação da água”. Foram selecionados apenas os artigos que tratavam desse tema no estado do Espírito Santo. Foram contatadas as coordenações e as bibliotecas de todas as instituições de ensino de graduação e pós-graduação em odontologia no estado do Espírito Santo, além do curso de Saneamento Ambiental do Instituto Federal do Espírito Santo, para busca de trabalhos desenvolvidos sobre a fluoretação da água de abastecimento público, mesmo que ainda não publicados.
A segunda etapa consistiu na busca de documentos técnicos e de gestão. Foram buscados dados disponibilizados pela empresa de abastecimento público e pelas vigilâncias municipais para identificação de registros sobre a vigilância da concentração de fluoreto na água de abastecimento público. Foram realizados contatos com as Coordenações Estadual e Municipais de Saúde Bucal da RMGV/ES, além de com os órgãos de vigilância ambiental desses municípios, para consulta sobre a existência de possíveis documentos ou projetos construídos a partir das observações desses órgãos sobre a fluoretação da água de abastecimento público.
A busca de informações públicas sobre o controle da fluoretação da água foi realizada no endereço eletrônico da empresa responsável pelo abastecimento público de água de todos os municípios da RMGV/ES (https://cesan.com.br/); sobre heterocontrole, nos sites das prefeituras municipais e no endereço eletrônico do Centro Colaborador do Ministério da Saúde em Vigilância da Saúde Bucal (Cecol)14. Nesses sites, foram levantadas todas as reportagens e notícias que versavam sobre a fluoretação na RMGV/ES. As palavras-chave para a busca nos sites foram: “qualidade da água”, “fluoretação” e “flúor”.
A análise dos documentos e artigos selecionados foi realizada buscando identificar as seguintes informações: ano do levantamento dos dados; número de municípios incluídos no documento; número de documentos por município; tema principal; autores/instituições responsáveis pelo documento; método de pesquisa, identificando se foi ou não realizada análise de concentração do íon flúor e, caso tenha sido realizada, qual a concentração encontrada.
A análise das notícias disponíveis nos sites foi organizada para identificar: o título da notícia; sua fonte; ano de publicação; característica geral e trecho principal. Para auxiliar a descrição, a análise dos dados, e também facilitar a comparação entre as informações obtidas, foi construída uma grade de análise no programa Microsoft Office Excel 2010®
Todos os dados utilizados nesta pesquisa eram de domínio público e acesso irrestrito. Portanto, não houve necessidade de submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa.
Em nenhuma das instituições foi encontrado qualquer trabalho desenvolvido que atendesse aos critérios de seleção deste estudo. Nas coordenações municipais e estadual de saúde bucal e órgãos de vigilância ambiental desses municípios, a resposta foi negativa quanto à existência de quaisquer documentos que se encaixassem no tema deste estudo.
No endereço eletrônico do Cecol14 foram identificadas informações sobre o heterocontrole da fluoretação da água nos municípios brasileiros com mais de 50 mil habitantes, sistematizadas a partir de dados provenientes do Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Vigiagua) em seu Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Sisagua). Essas informações constituem o Projeto Vigiflúor – Cobertura e Vigilância da Fluoretação da Água de Abastecimento Público no Brasil, nos anos de 2010 a 2014 – uma pesquisa de execução em todo o país que incluiu 11 municípios do Espírito Santo, seis deles localizados na RMGV/ES. A exceção foi o município de Fundão, que possuía população inferior à pré-estabelecida para sua inclusão no Vigiflúor.
A Tabela 1 mostra o percentual de cobertura populacional de água fluoretada e as respectivas médias das concentrações de fluoreto em seis dos sete municípios analisados. Entre 2010 e 2015, observou-se uma variação no percentual de cobertura populacional de água fluoretada; com relação às médias da concentração de fluoretos para os diversos municípios da região, observou-se que, utilizando-se como referência ideal o intervalo de 0,6 a 0,8 mg de F/l de água, determinado pela legislação7, 14 (51,9%) delas estavam no intervalo ideal, 11 (40,7%) estavam abaixo dessa faixa e duas (7,4%) estavam acima. Os municípios de Cariacica e Viana (ES) não apresentaram informação para pelo menos um dos anos analisados.
Tabela 1 – Percentual de cobertura populacional de água fluoretada e média das concentrações de fluoreto (mg/l) na água de abastecimento público. RMGV/ES – 2010-2015
Fonte: Cecol. Disponível em: www.cecol.fsp.usp.br.
% Percentual de cobertura * Ausência de informação
A pesquisa nas bases de dados permitiu identificar cinco artigos científicos sobre a fluoretação da água de abastecimento público que atendiam aos critérios de seleção deste estudo. Os resultados da análise estão descritos no Quadro 1. Pode-se observar, além do pequeno número de estudos identificados, que a maioria incluiu apenas a cidade de Vitória, capital do estado do Espírito Santo.
No site da empresa de abastecimento público foram encontradas dez notícias e documentos que continham no seu corpo as palavras-chave “flúor” e/ou “fluoretação”. Como tema central, seis possuíam caráter de informe e quatro apresentavam dados sobre o controle da qualidade da água, através de relatórios. Porém, os relatórios anuais sobre a qualidade da água distribuída não continham dados da concentração de fluoretos, apesar de na sua descrição ficar claro que o flúor se insere no objetivo da análise. Portanto, os resultados da análise físico-química ficaram restritos à cor, à turbidez e ao cloro. Das seis notícias com objetivo de informe, apenas uma possuía informações claras sobre a fluoretação e cinco a citavam, pontualmente, como parte do processo de controle da água. Na busca pelos sites das prefeituras municipais, foram encontradas duas notícias com caráter de informe divulgando a realização de atividades de monitoramento da fluoretação. Nenhum dado da vigilância foi divulgado através do endereço eletrônico das prefeituras (Quadro 2).
Quadro 1 – Análise da produção científica sobre a fluoretação da água de abastecimento. RMGV/ES – 1953-2015
Estudo Ano da publicação Tema principal Amostra Análise da concentração de fluoretos Resultados
Ferreira et al.15 1999 Fluorose Vitória Sim Abaixo do ideal (0,7 ppm)
Emmerich e Freire16 2003 Histórico Todos municípios da RMGV/ES Não -
Jesus et al.17 2005 Vigilância Vitória Sim Média – Ideal (0,6 – 0,8 ppm)
Cesa et al.18 2011 Vigilância 27 capitais – Vitória Sim 70,9% ideais (0,6 – 0,8 ppm)
Narvai et al.19 2014 Vigilância 27 capitais – Vitória Não -
Fonte: Elaboração própria.
Revista Baiana de Saúde Pública
Quadro 2 – Análise das informações sobre a fluoretação da água de abastecimento nos sites da empresa de abastecimento e das prefeituras municipais. RMGV/ES – 2015
Notícia Fonte de informação Ano da publicação Característica
“Bairro de Guarapari terá água da Cesan em 30 dias”
“Coral das águas na semana do servidor”
“Scardua quer 100% da água fluoretada no ES”
“Cirurgiões dentistas visitam sistema da Cesan”
“Cesan abre mais uma ETA para visita”
“Cesan finaliza entrega do relatório anual da qualidade da água”
“Cesan entrega relatórios anuais de qualidade da água para clientes”
“Cesan faz rigoroso controle da qualidade da água para garantir abastecimento à população”
“Cesan entrega relatórios anuais de qualidade da água 2010 para clientes”
“Cesan explica de onde vem a água que bebemos”
“Sesa monitora qualidade da água”
Empresa de abastecimento 2003 Informe
Empresa de abastecimento 2003 Informe
Empresa de abastecimento 2003 Informe
Empresa de abastecimento 2003 Informe
Empresa de abastecimento 2004 Informe
Trecho principal
“Cerca de 158 famílias (…) passarão a receber água tratada e fluoretada dentro de 30 dias.”
“O Coral das Águas estará se apresentando (…) em comemoração aos 50 anos de Fluoretação das Águas na América Latina.”
“A fluoretação é o método mais efetivo, universal e econômico para a prevenção da cárie dentária”
“(…) a aplicação do flúor atende aos parâmetros de qualidade da água exigidos pelo Ministério da Saúde, por meio da portaria 1469/2000”
“(…) os alunos conhecem todas as etapas do processo de tratamento de água (…) onde são acionados o cloro, a cal e o flúor, completando o tratamento.”
Empresa de abastecimento 2010 Controle “Informa ainda dados sobre os parâmetros cor, turbidez, pH, flúor, cloro residual e microbiológicos”
Empresa de abastecimento 2011 Controle
“Traz dados sobre os parâmetros físico-químicos (cor, turbidez, pH, flúor e cloro residual) e microbiológicos”
Empresa de abastecimento 2011 Controle “Traz dados sobre os parâmetros cor, turbidez, pH, flúor, cloro residual e microbiológicos”
Empresa de abastecimento 2011 Controle “Traz dados sobre os parâmetros cor, turbidez, pH, flúor, cloro residual e microbiológicos”
Empresa de abastecimento 2015 Informe
Prefeitura municipal 2015 Informe
“Serviços Odontológicos” Prefeitura municipal Sem data Informe
Fonte: Elaboração própria.
“Cada um tem capacidade de armazenar 10 milhões de litros e, nesta etapa, a água recebe cloro, flúor (…)”
“O monitoramento da qualidade da água é feito (…) aferição dos parâmetros Turbidez, PH, Flúor, Coliformes Totais e bactéria Escherichia coli”
A Prefeitura realiza a vigilância dos níveis de fluoreto na água de abastecimento da cidade, por meio do programa Vigiagua.”
Observou-se uma pequena produção de dados relativos ao heterocontrole da fluoretação da água de abastecimento público nos municípios da RMGV/ES, sobretudo por instituições que não as prestadoras do serviço. A busca de informações nos sites das prefeituras
e da empresa de abastecimento mostrou que não há comunicação entre essas entidades e a população, no que diz respeito aos dados do controle da fluoretação da água que chegam às casas.
A falta de produção científica e documental pode revelar o pequeno destaque desse tema no cenário científico local e, possivelmente, a pequena visibilidade pública do mesmo – ainda que a fluoretação da água de abastecimento tenha se iniciado no próprio estado do Espírito Santo na década de 195016. Entretanto, no que diz respeito à inexistência de relatórios técnicos e de gestão relacionados à fluoretação, para além dos relatórios gerados pelo Sisagua, observa-se que esse fato não é inerente apenas à região estudada. Silva et al. (2007)20 realizaram uma pesquisa no Piauí e ressaltaram que, em relação aos municípios piauienses, havia falta de um sistema de vigilância sanitária permanente, além da indisponibilidade de relatórios e de controle operacional da própria concessionária de abastecimento. Esse estudo ainda revelou que 95,7% das amostras analisadas apresentavam concentrações inadequadas de flúor e que falhas do controle da fluoretação têm sido verificadas por estudos, tanto no Nordeste como também em outras regiões do país.
Em 2003, Maia e colaboradores ressaltaram a necessidade de estabelecimento de um programa independente de controle/heterocontrole da concentração de flúor na água a fim de garantir à população os benefícios do flúor no controle e na prevenção da cárie dentária. Essa discussão foi possível a partir da observação da realidade da cidade de Niterói (RJ), que apresentou, em 2000, 96% de amostras inadequadas para o fluoreto, além de ausência de regularidade nas concentrações desse íon – apesar da prestadora de serviço ter afirmado existir um controle operacional dos teores de flúor na água tratada21
Para garantir o acesso universal ao flúor, não basta apenas adicioná-lo à água de abastecimento – é importante, também, garantir o acesso à água tratada e fluoretada a todos os domicílios e realizar a vigilância sobre a medida, uma vez que, se a concentração de fluoreto não estiver em níveis considerados ótimos, seu benefício não atingirá a totalidade da população4,6,7. Um sistema de vigilância estruturado traz efeitos positivos para a qualidade da fluoretação da água de abastecimento público, uma vez que é uma estratégia essencial para assegurar padrões de segurança e qualidade para o consumo humano22.
Entretanto, do ponto de vista documental, a precariedade de informações sobre heterocontrole revela a pouca relevância das ações específicas voltadas para a vigilância da fluoretação. Estudo nos municípios brasileiros com mais de 50 mil habitantes mostrou que apenas 209 (53%) daqueles que tinham metade ou mais da população coberta pela fluoretação da água realizavam a vigilância com base em dados de heterocontrole, sendo que
a situação era melhor nas regiões Sudeste e Sul e muito ruim nas demais regiões, indicando a necessidade urgente da formulação de estratégias para inserir o tema na agenda de todos os gestores da saúde23
Acresce que alguns profissionais da área de saneamento têm dúvidas sobre a eficácia preventiva e a segurança dessa tecnologia de saúde pública por desconhecimento do método ou falta de conhecimentos científicos24. Com as mudanças aceleradas do mundo contemporâneo, a saúde pública está se defrontando com a propagação crescente de conteúdo falso na internet e nas redes sociais – um fenômeno que pode prejudicar a manutenção de políticas públicas como a vacinação e a fluoretação da água e trazer importantes desafios para o combate à desinformação on-line25
Além disso, estudos têm demonstrado que trabalhadores da vigilância se deparam com algumas questões no processo de trabalho, tais como: insuficiente capacitação e gratificação; desmotivação profissional; não institucionalização do Plano de Cargos, Carreiras e Salários; baixa utilização do potencial dos técnicos e indefinição de requisitos éticos para exercer funções de fiscalização sanitária26,27. Desta forma, na ausência de projetos de desenvolvimento profissional articulado às necessidades do trabalho, os agentes da vigilância buscam apoio em fontes de conhecimento duvidoso levando a desinformação sobre um importante parâmetro da qualidade da água ligado à fluoretação.
No que diz respeito especificamente à vigilância da fluoretação, o estudo demonstrou que o processo de vigilância enfrentou problemas que envolveram a coleta da amostra, as análises e a divulgação dos resultados. Embora a maioria dos profissionais considerasse disseminação das informações para a sociedade extremamente importante, todos relataram que não eram oferecidas oportunidades para a sociedade tomar conhecimento e participar do controle da qualidade da água12.
A falta de informação da população quanto à qualidade da água consumida é causa e consequência da dificuldade do usuário de se envolver com as questões de vigilância e de monitoramento28. Além disso, fragiliza a potencialidade do controle social nas questões decisivas sobre a saúde da população, enfraquecendo a capacidade da sociedade civil de interferir na gestão pública e de orientar as ações do Estado na direção dos interesses da coletividade13.
A indisponibilidade de informações é um problema que atinge diferentes níveis do poder público. As páginas eletrônicas do Ministério da Saúde não permitem o acesso às informações sobre o Sisagua, o que acaba contribuindo para limitar o controle social – pilar do SUS –que pode ser efetivado quando há uma relação direta com vários elementos da comunicação.
Entre eles: acesso às informações em formato adequado, qualificação para lidar com as informações, capacidade argumentativa e regras claras nos espaços de negociação29.
A Lei nº 8.080/1990, de 19 de setembro de 1990, prevê que a divulgação de informações em saúde é atribuição da União, estados, Distrito Federal e municípios30. A Portaria Ministério da Saúde nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011, institui mecanismos e instrumentos para divulgação de informação ao consumidor sobre a qualidade da água para consumo humano7. Em 2017, a Portaria Ministério da Saúde nº 2.914 foi incorporada pela Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017, que reafirma os padrões de potabilidade da água e consolida as deliberações anteriores de forma permanente31
A elaboração, formulação, execução e avaliação da qualidade da água, com envolvimento ativo da população, é fundamental para melhorar o modelo vigente de vigilância. Porém, ainda, quando ocorrem alterações no padrão da qualidade da água, as tomadas de decisões são realizadas de forma centralizada, excluindo a população do processo. Para que ocorra essa interação entre a vigilância e a população, é fundamental a exposição dos dados e relatórios obtidos pela vigilância22
Também se destaca a ausência de dados públicos fornecidos por meio da empresa de abastecimento público – no que diz respeito à responsabilidade da empresa de abastecimento, a Portaria nº 1.469 de 2000, que aprova o padrão de potabilidade da água de consumo humano, destaca que os responsáveis devem repassar as informações sobre a qualidade da água ao consumidor com periodicidade mínima anual32. Os relatórios anuais são produzidos e disponibilizados no site, porém neles não há informações sobre o controle da fluoretação.
Mediante quantidade inexpressiva de informações sobre o heterocontrole na região, evidencia-se a necessidade de mobilização dos órgãos públicos competentes a fim de atuarem incisivamente no controle da fluoretação nos municípios. Revela-se também, neste estudo, a necessidade de superar o papel coadjuvante de outras instituições – dentre elas as instituições de ensino, que podem atuar de forma incisiva no controle dessa medida ao exercer seu papel social sobretudo na análise dos teores de fluoreto, juntamente aos órgãos públicos e ampliação do debate social sobre a qualidade da água consumida pelas populações.
A socialização das informações sobre o controle da água e, em particular, sobre a fluoretação, é importante para inserir essa temática no debate sobre saúde bucal com o objetivo de cobrar do poder público, em todos os seus níveis, a realização dessa política de
resgate de uma água tratada, de qualidade, sem intermitência e com flúor – a fim de que a sociedade solicite ações governamentais para solução de problemas comunitários, e assim alcançar adequadas condições de vida, saúde e cidadania.
À Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo, pelo financiamento do projeto que subsidiou os resultados deste estudo.
1. Concepção e projeto ou análise e interpretação dos dados: Lorrayne Belotti, Carolina Dutra Degli Esposti, Izabela Marquezini Cabral, Karina Tonini dos Santos Pacheco, Adauto Emmerich Oliveira e Edson Theodoro dos Santos Neto.
2. Redação do artigo ou revisão crítica relevante do conteúdo intelectual: Lorrayne Belotti, Carolina Dutra Degli Esposti, Izabela Marquezini Cabral, Karina Tonini dos Santos Pacheco, Adauto Emmerich Oliveira e Edson Theodoro dos Santos Neto.
3. Aprovação final da versão a ser publicada: Lorrayne Belotti, Carolina Dutra Degli Esposti, Izabela Marquezini Cabral, Karina Tonini dos Santos Pacheco, Adauto Emmerich Oliveira e Edson Theodoro dos Santos Neto.
4. Ser responsável por todos os aspectos do trabalho na garantia da exatidão e integridade de qualquer parte da obra: Lorrayne Belotti, Carolina Dutra Degli Esposti, Karina Tonini dos Santos Pacheco e Edson Theodoro dos Santos Neto.
1. Beal JF, Lennon M. Water fluoridation: there is no evidence. Br Dent J. 2017;222(8):564.
2. McDonagh MS, Whiting PF, Wilson PM, Sutton AJ, Chestnutt I, Cooper J, et al. Systematic review of water fluoridation. BMJ. 2000;321(7265):855-9.
3. Whelton HP, Spencer AJ, Do LG, Rugg-Gunn AJ. Fluoride revolution and dental caries: evolution of policies for global use. J Dent Res. 2019;98(8):837-46.
4. Frazão P, Peres M, Cury JA. Qualidade da água para consumo humano e concentração de fluoreto. Rev Saúde Pública. 2011;45(5):964-73.
5. Frazão P. Narvai PC. Fluoretação da água em cidades brasileiras na primeira década do século XXI. Rev Saúde Pública. 2017;51(47):1-11.
6. Belotti L, Frazão P, Esposti CDD, Cury JA, Santos-Neto ET, Pacheco KS. Quality of the water fluoridation and municipal-level indicators in a Brazilian metropolitan region. Rev Ambient Água. 2018;13(6):e2270.
7. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011. Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil [Internet], Brasília (DF); 2011 dez 14 [citado em 2020 jul 17]. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/ gm/2011/prt2914_12_12_2011.html
8. Buzalaf MAR, Granjeiro JM, Damante CA, Ornelas F. Fluctuations in public water fluoride level in Bauru, Brazil. J Public Health Dent. 2002;62(3):173-6.
9. Moore D, Goodwin M, Pretty IA. Long-term variability in artificially and naturally fluoridated water supplies in England. Community Dent Oral Epidemiol. 2020;48(1):49-55.
10. Narvai PC. Cárie dentária e flúor: uma relação do século XX. Ciênc Saúde Colet. 2000;5(2):381-92.
11. Frazão P, Soares CCS, Fernandes GF, Marques RAA, Narvai PC. Fluoretação da água e insuficiências no sistema de informação da política de vigilância à saúde. Rev Assoc Paul Cir Dent. 2013;67(2):94-100.
12. Belotti L, Brandão SR, Pacheco KT S, Frazão P, Esposti CDD. Surveillance of water quality for human consumption: potentials and limitations regarding fluoridation according to the workers. Saúde Debate. 2019;43(3):51-62.
13. Queiroz ACL, Cardoso LSM, Silva SCF, Heller L, Cairncross S. Programa Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental Relacionada à Qualidade da Água para Consumo Humano (Vigiagua): lacunas entre a formulação do programa e sua implantação na instância municipal. Saúde Soc. 2012;21(2):465-78.
14. Centro Colaborador do Ministério da Saúde em Vigilância da Saúde Bucal. Sistema Vigiflúor [Internet]. São Paulo (SP): Ministério da Saúde; 2009 [citado em 2020 jul 17]. Disponível em: http://www.cecol.fsp.usp.br
15. Ferreira HCM, Gomes AMM, Silva KRCS, Rodrigues CRMD, Gomes AA. Avaliação do teor de flúor na água de abastecimento público do município de Vitória – ES. Rev Assoc Paul Cir Dent. 1999;53(6):455-9.
16. Emmerich A, Freire AS. Flúor e saúde coletiva. Vitória (ES): Edufes; 2003.
17. Jesus GA, Silva LM, Arrebola TM. Avaliação dos teores de fluoreto na água potável distribuída pela concessionária Cesan que abastece o município de Vitória – ES. Vértices. 2005;7(1):129-40.
18. Cesa K, Abegg C, Aerts D. A vigilância da fluoretação nas capitais. Epidemiol Serv Saúde. 2011;20(4):547-55.
19. Narvai PC, Frias AC, Fratucci MVB, Antunes JLF, Carnut L, Frazão P. Fluoretação da água em capitais brasileiras no início do século XXI: a efetividade em questão. Saúde Debate. 2014;38(102):562-71.
20. Silva JS, Val CM, Costa JN, Moura MS, Silva TAE, Sampaio FC. Heterocontrole da fluoretação das águas em três cidades no Piauí, Brasil. Cad Saúde Pública. 2007;23(5):1083-8.
21. Maia LC, Valença AOMC, Soares EL, Cury JA. Controle operacional da fluoretação da água de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. Cad Saúde Pública. 2003;19(1):61-7.
22. Freitas MF, Freitas CMA. Vigilância da qualidade da água para consumo humano – desafios e perspectivas para o consumo humano. Ciênc Saúde Colet. 2005;10(4):993-1004.
23. Frazão P, Narvai PC, organizadores. Cobertura e vigilância da fluoretação da água no Brasil: municípios com mais de 50 mil habitantes. São Paulo (SP): Higeia Livros; 2017.
24. Brasil. Ministério da Saúde. Guia de recomendações para o uso de fluoretos no Brasil. Brasília, DF; 2009 [citado em 2020 jul 17]. Disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/guia_fluoretos.pdf
25. Seymour B, Getman R, Saraf A, Zhang LH, Kalenderian E. When advocacy obscures accuracy online: digital pandemics of public health misinformation through an antifluoride case study. Am J Public Health. 2015;105(3):517-23.
26. Leal COBS, Teixeira CF. Análise de situação dos recursos humanos da vigilância sanitária em Salvador – BA, Brasil. Interface. 2009;13(30):167-79.
27. Campos MA, Pacheco KTS, Belotti L, Kenupp BZ, Esposti CDD, Santos-Neto ET. Análise do gerenciamento do heterocontrole da fluoretação das águas de abastecimento público de um município de médio porte no estado do Espírito Santo. Rev Bras Promoç Saúde. 2016;17(3):89-97.
28. Faria LS, Bertolozzi MR. A vigilância na atenção básica à saúde: perspectivas para o alcance da vigilância à saúde. Rev Esc Enferm USP. 2010;44(3):789-95.
29. Correia MVC. Que controle social? Os conselhos de saúde como instrumento. 20a ed. Rio de Janeiro (RJ): Fiocruz; 2003.
30. Brasil. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil [Internet], Brasília (DF); 1990 set 20 [citado em 2020 jul 17]. Seção 1, p. 1. Disponível em: http:// www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm
31. Brasil. Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017. Consolidação das normas sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil [Internet], Brasília (DF); 2017 set 29 [citado em 2020 jul 17]. Disponível em: http:// bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0005_03_10_2017.html
32. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.469, de 29 de dezembro de 2000. Aprova o padrão de potabilidade da água de consumo humano e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil [Internet], Brasília (DF); 2000 dez 29 [citado em 2020 jul 17]. Disponível em: http://www.agenciapcj.org.br/docs/portarias/portaria-ms-1469-00.pdf
Recebido: 27.2.2019. Aprovado: 9.7.2020.
O envelhecimento fisiológico é linear e não obrigatoriamente igual em todos os sistemas do corpo humano, cada um inicia seu envelhecimento a um dado momento e perde a função em seu próprio ritmo. O objetivo deste estudo é analisar as intercorrências da capacidade funcional e função cognitiva de idosos. Trata-se de um estudo transversal de base populacional em Manaus (AM), Brasil, com 556 participantes, com sessenta anos ou mais. Os dados foram coletados por meio de inquérito domiciliar, com o auxílio de três instrumentos: o primeiro, questões referentes aos dados sociodemográficos; o segundo, o índice de Katz avaliando a independência em seis atividades; e o terceiro, o miniexame do estado mental (Meem), para avaliar a capacidade cognitiva. Os resultados apontaram uma prevalência de declínio cognitivo de 3,42% (n = 19). A média de pontuação no Meem foi de 19,3 pontos, e a média de idade dos idosos, de 66,5 anos. Com base na análise do índice de Katz, 88,67% (n = 493) foram classificados como independentes, segundo os critérios para AVD. Concluiu-se que há correlação entre função cognitiva e capacidade funcional na população estudada, de forma linear. Sendo assim, à medida que a capacidade cognitiva do indivíduo declina, concomitantemente também diminui sua capacidade funcional, com repercussões significativas na qualidade de vida.
Palavras-chave: Cognição. Atividades cotidianas. Idoso. Capacidade funcional. Saúde pública.
a Doutor em Engenharia Biomédica. Docente da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil. E-mail: aldopachecoferreira@gmail.com
b Doutora em Saúde Pública. Docente do curso de Fonoaudiologia da Faculdade Metropolitana de Manaus. Manaus, Amazonas, Brasil. E-mail: karlag_crispim@gmail.com
Endereço para correspondência: Fundação Oswaldo Cruz, Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Saúde e Diversidade Cultural, Departamento de Direitos Humanos. Av. Brasil, n. 4.036, sala 905, Manguinhos. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil. CEP: 21040-900. E-mail: aldopachecoferreira@gmail.com
IN OLDER ADULTS, MANAUS, AMAZONAS: A CASE STUDY
Abstract
Physical aging is linear and not necessarily equal for all systems of the human body, each one begins its aging at a given moment and loses its function at its own rhythm. The objective of this study is to investigate complications of functional capacity and cognitive function in older adults. It is a population-based cross-sectional study conducted in Manaus, Amazonas, Brazil, with 556 participants aged 60 years or more. The data were collected through a household survey with the aid of three instruments: The first one with questions regarding sociodemographic data, the second instrument was the Katz Index assessing independence in six activities, and the third instrument was the mini-mental state examination (MMSE), to evaluate cognitive ability. The results showed a prevalence of cognitive decline of 3.42% (n = 19). The mean score in the MMSE was 19.3 points and the mean age of the older population sampled was 66.5 years. According to the Katz index, 88.67% (n = 493) were classified as independent according to the criteria for ADL. In conclusion, a correlation was found between cognitive function and functional capacity in the studied population, in a linear manner. Thus, as the individual declines their cognitive ability, concomitantly, their functional capacity also diminishes, with significant repercussions on quality of life.
Keywords: Cognition. Activities of daily living. Older adults. Functional capacity. Public health.
ANÁLISIS DE INTERCORRENCIAS SOBRE LA CAPACIDAD FUNCIONAL Y FUNCIÓN
COGNITIVA EN PERSONAS MAYORES, MANAUS (AM): UN ESTUDIO DE CASO Resumen
El envejecimiento fisiológico es lineal y no necesariamente igual en todos los sistemas del cuerpo humano, cada uno comienza su envejecimiento en un momento y pierde la función a su propio ritmo. El objetivo de este estudio es investigar las intercorrencias de la capacidad funcional y la función cognitiva de los ancianos. Es un estudio transversal de base poblacional que se realizó en Manaus (AM, Brasil) con 556 participantes de 60 años o más. Los datos se recopilaron por medio de una encuesta de hogares, con la ayuda de tres instrumentos: El primero con preguntas sobre datos sociodemográficos, el segundo instrumento fue el Índice Katz que evaluó la independencia en seis actividades y el tercer, el miniexamen de estado mental (Meem),
para evaluar la capacidad cognitiva. Los resultados mostraron que la prevalencia de deterioro cognitivo fue del 3,42% (n = 19). La puntuación media en el Meem fue de 19,3 puntos, y el promedio de edad de los ancianos fue de 66,5 años. Basándose en el índice de Katz, el 88,67% (n = 493) se clasificó como independiente para los criterios de ADL. Se concluyó que existe una correlación entre la función cognitiva y la capacidad funcional en la población estudiada, de forma lineal. Por lo tanto, a medida que el individuo disminuye su capacidad cognitiva, a su vez, su capacidad funcional también disminuye, con repercusiones significativas en la calidad de vida.
Palabras clave: Cognición. Actividades de la vida diaria. Anciano. Capacidad funcional. Salud pública.
O envelhecimento é um processo de desenvolvimento normal que envolve transformações morfológicas, bioquímicas, fisiológicas e psicológicas1. A crescente ascensão da expectativa média de vida, conexa à redução das taxas de mortalidade e natalidade, tornaram o envelhecimento populacional um acontecimento verificado mundialmente2,3. No Brasil, o envelhecimento da população acompanha a tendência internacional4, mas há diferenças significativas em relação à população idosa nas regiões do país, com o Norte e o Nordeste apresentando as menores proporções5.
Como decorrência da ampliação do número de idosos, emerge a necessidade de políticas e ações voltadas para essa faixa etária, pois eles chegam a tal idade com limitações, doenças e agravos crônicos não transmissíveis, que demandam acompanhamento constante6,7 Vale destacar que as doenças de caráter crônico frequentemente estão associadas entre si, e tendem a ser expressivas na velhice, com grandes chances de gerar incapacidades8. É sabido que os idosos são acometidos de um número maior de doenças, consomem mais serviços de saúde e têm taxas de internação e de ocupação de leito hospitalar bem mais elevadas do que qualquer outro grupo etário. Esse quadro aponta para a necessidade de políticas de saúde que deem conta, efetivamente, das demandas dessa população.
A capacidade funcional se constitui em um componente de estudo acerca do estado de saúde do idoso. Para avaliar o estado funcional, é necessário determinar o nível de independência para a realização das atividades de vida diária (AVD). Os resultados podem mostrar idosos independentes, parcialmente independentes ou dependentes para realizar atividades9. A funcionalidade também pode ser em relação ao desempenho da pessoa quanto
a sua capacidade de autocuidado, integridade física, estado intelectual, mental e espiritual, e interações sociais10.
A avaliação da capacidade funcional por meio de testes que simulam os gestos realizados durante as AVDs é válida para se identificar precocemente o declínio físico, elaborar programas de exercícios individualizados, observar a evolução motora e evitar a perda de independência11,12. Diversos estudos demonstraram associações entre doenças crônicas e incapacidade para a realização das AVDs nos idosos. Ante as atuais tendências de envelhecimento populacional, cresce a importância de se avaliar o estado de saúde dos idosos, identificando as doenças incapacitantes para cada indivíduo, de forma que a qualidade de vida lhes seja assegurada13
Em idosos, a avaliação da capacidade funcional pode se basear, principalmente, na aferição de habilidades físicas por meio dos testes físicos, como aqueles que avaliam tempo de reação, força muscular, locomoção e equilíbrio14. Isso porque essas ações representam as atividades de maior dificuldade e mais frequentes no cotidiano dessa população15,16. Estudos apresentam resultados controversos no que se refere à correlação da função cognitiva e da capacidade funcional. Castro e Guerra17, que utilizaram uma amostra de 213 idosos hígidos, apontaram a interferência do desempenho cognitivo nas AVDs. Assim como, no estudo de Talmelli et al.18, concluiu-se que a disfunção cognitiva influenciou negativamente nas AVDs. No estudo realizado por Castro et al.19, os resultados mostraram correlações significativas, de moderada magnitude, entre as comparações cognitivas e motoras. Já estudos como os de Borges, Albuquerque e Garcia6 e Christofoletti et al.20, os resultados apresentaram uma fraca correlação entre o nível cognitivo e a capacidade funcional de idosos21.
Para mapear o comprometimento cognitivo, o miniexame do estado mental (Meem), traduzido e validado no Brasil por Bertolucci et al.22, é a escala mais utilizada tanto em pesquisas quanto na prática clínica, para verificar a evolução da função cognitiva e analisar a efetividade do tratamento23
Estudos cognitivos em idosos, ainda que fundamentais à saúde pública, são raros no Brasil, principalmente nas regiões Norte e Nordeste24. Por conseguinte, a realização de estudos com o intuito de identificar os problemas epidemiológicos dessa população oportuniza ampliar o conhecimento e a intervenção nas especificidades inerentes a esse grupo25.
É nesse contexto que analisar a relação entre capacidade funcional e função cognitiva se torna essencial para determinar as condições de vida e saúde de idosos, subsidiando a efetividade e a eficiência das intervenções afeitas ao grupo. E, considerando-se a controvérsia entre os estudos encontrados que estabelecem relação entre cognição e capacidade funcional,
tornou-se necessário desenvolver um estudo capaz de analisar esses fatores. Dessa forma, este estudo tem como objetivo verificar a associação entre cognição e capacidade funcional em idosos.
Foi realizado um estudo transversal de base populacional. A pesquisa faz parte do projeto intitulado “Condições de vida e saúde de idosos residentes em Manaus/AM” (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas – Fapeam).
Todos os participantes receberam uma explicação completa sobre a natureza da pesquisa, e aqueles que aceitaram participar voluntariamente assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
A população de Manaus (03º08’ S e 60º01’ W) está estimada em 2.145.444 habitantes, dos quais 128.679 têm sessenta anos ou mais, sendo 56,6% (72.832) do sexo feminino26. A amostra de 646 sujeitos foi calculada tomando como referência a proporção esperada de 30% de idosos com deficiência auditiva autorreferida, erro amostral de 5%, confiança de 95% e desenho de 2 (utilizado para compensar as possíveis perdas da amostra). Para auxiliar na composição da amostra, foram utilizados a caracterização da zona urbana da cidade de Manaus, que está dividida em seis zonas administrativas27.
O método amostral utilizado foi probabilístico em dois estágios, com probabilidade proporcional ao tamanho (PPT). Esse processo foi escolhido por controlar o tamanho da amostra entre os setores censitários, além de mantê-la autoponderada. Adotou-se o tipo de amostragem probabilística, considerando os métodos de amostragem aleatória simples e por conglomerado em dois estágios28, característica de um delineamento amostral complexo29,30, em que os setores censitários foram considerados unidades primárias de amostragem, e os domicílios, as unidades secundárias.
Na amostragem por conglomerado, o sorteio em dois estágios com probabilidade proporcional ao tamanho dos conglomerados é um processo que controla o tamanho da amostra de elementos, além de mantê-la autoponderada. Fundamenta-se nos princípios básicos de eficiência, sendo amplamente usado em inquéritos populacionais31,32
Na primeira fase, a amostra de 646 entrevistas foi dividida pelo fator de proporcionalidade de sete entrevistas por setor censitário (que foi o mínimo de entrevistas estipuladas para cada setor), totalizando 92 setores. Em seguida, a população-alvo (128.679) foi dividida por 92 (total de setores), o que gerou um intervalo de sistematização de 1.210 idosos; ou seja, a cada 1.210 idosos, era selecionado um setor, até serem selecionados os 92 setores da amostra. Para manter a proporcionalidade por zonas geográficas da cidade de Manaus,
a população foi acumulada levando em consideração as zonas e, em seguida, os bairros. Na segunda fase, em cada setor censitário, os idosos foram selecionados por meio do processo de sistematização, levando em consideração as cotas de gênero e idade, de forma a se obter uma amostra representativa da população-alvo. A pesquisa foi realizada na área urbana da cidade de Manaus, que está dividida em seis zonas administrativas27. A distribuição quantitativa da amostra por zonas geográficas com o total de sujeitos pesquisados (n = 646) é explicitada na Tabela 1.
Tabela 1 – Zonas geográficas de Manaus discriminando o total de sujeitos participantes da pesquisa (n = 646). Manaus, Amazonas – 2018
Foram excluídos do estudo os idosos residentes em instituições de longa permanência ou hospitalizados. Os sujeitos que estavam impossibilitados de responder aos instrumentos por apresentar perda auditiva, distúrbios de linguagem e/ou psiquiátricos foram registrados, perfazendo um total de 90 entrevistas que não foram analisadas. Por conseguinte, foram analisados os resultados de 556 entrevistas.
Os dados foram coletados por meio de inquérito domiciliar, com o auxílio de três instrumentos, conforme descrição a seguir: o primeiro, questões referentes aos dados sociodemográficos; o segundo, o índice de Katz33 avaliando a independência em seis atividades: vestir-se, lavar-se, utilizar o sanitário, mobilizar-se, ser continente e alimentar-se.
Por meio de observação e entrevista, o entrevistador pontua cada atividade, numa escala de três pontos. Ao final, as classificações podem ser “independência” (realiza todas as atividades básicas de vida diária sozinho, sem supervisão ou qualquer auxílio); “dependência parcial” (realiza parcialmente ou com pouca dificuldade as funções); ou “dependência completa” (não realiza as atividades sozinho). A dependência completa representa o grau máximo de dependência e/ou fragilidade com o comprometimento de todas as AVDs. Assim, o índice de Katz é utilizado de diferentes formas, em especial no que se refere à classificação de dependência
e independência do indivíduo. A perda da capacidade funcional ocorre numa ordem particular, sendo que a função mais complexa é a primeira a ser perdida34-37.
O terceiro instrumento utilizado foi o Meem, para proceder ao rastreio cognitivo, sendo avaliados os domínios: orientação temporal, espacial, memória imediata e de evocação, cálculo, linguagem-nomeação, repetição, compreensão, escrita e cópia de desenho. Totaliza 30 pontos, sendo que o mínimo, zero, indica maior comprometimento cognitivo, enquanto 30 pontos correspondem à melhor capacidade cognitiva. Na avaliação, o Meem possui pontuação de corte diferenciado, que é de 19 para idosos sem escolaridade; escores abaixo deste valor são indicadores para déficit cognitivo. Para idosos com escolaridade, o ponto de corte é de 24; escores abaixo deste valor são indicativos de declínio cognitivo22
Foram estimadas as prevalências de intercorrências da capacidade funcional e função cognitiva de idosos. Para verificar a presença de diferenças estatisticamente significativas, foi utilizado teste exato de Fischer e Odds ratio (OR). Complementando o estudo, foi utilizada a regressão logística binária para modelar os dados, feitas pelo Critério de Informação de Akaike (AIC) e Logaritmo neperiano da função de verossimilhança (ln L).
Para a análise estatística, foram utilizados os aplicativos Statistical Package for a Social Science (SPSS) versão 22, R versão 3.3.0 e R Studio versão 0.99.903, considerando-se p≤0,05.
Este estudo recebeu aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP)/Fundação Oswaldo Cruz, Parecer n. 156.
Dos 556 sujeitos entrevistados, 65,29% são do sexo feminino (n = 363) e 34,71% do sexo masculino (n = 193); 27,52% (n = 153) nunca estudaram; e 38,31% (n = 213) referiram de 0 a 4 anos de estudo. Com relação à renda, 60,79% (n = 338) deles recebem até um salário mínimo; 50% (n = 278) são casados; e 35,61% (n = 198), viúvos. Maior prevalência de idosos encontra-se na faixa etária de 60 a 64 anos (n = 194, 34,89%) e de raça/cor parda (n = 384, 69,06%). Quanto ao tipo de moradia, prevalecem (n = 504, 90,6%) casas de alvenaria, sendo próprias em 87,2% dos entrevistados (n = 485) (Tabela 2).
No que diz respeito aos resultados obtidos para a realização das AVDs e do índice de Katz, 493 (88,67%) idosos eram independentes para todas as funções, 60 (10,79%) eram dependentes em uma função e 3 entrevistados eram dependentes para todas as funções.
Tabela 2 – Distribuição segundo a frequência dos dados das condições socioeconômicas,
e familiares dos idosos. Manaus, Amazonas –2018
A partir dos resultados relativos às AVDs, agruparam-se os mesmos em duas categorias: idosos que apresentaram independência para a realização das atividades diárias e idosos que tinham dependência parcial ou total. Os dados do Meem foram agrupados em idosos com declínio cognitivo e sem declínio cognitivo, segundo a escolaridade. A partir do cruzamento dos dados das variáveis capacidade funcional e condições cognitivas, pudemos observar, que dos 493 (88,67%) idosos independentes para a realização das AVDs, 338 (60,79%) não apresentaram declínio cognitivo. Dos 63 (11,33%) idosos que apresentaram dependência parcial ou total, 19 (3,42%) tinham declínio cognitivo.
O Meem foi aplicado com o intuito de avaliar a capacidade (comprometimento) cognitivo dos indivíduos estudados. Optou-se por classificá-lo em baixo e alto por meio dos níveis de corte sugeridos por Bertolucci et al.22. Considerou-se como baixo o escore do Meem
menor que 13, 18 ou 26 pontos para indivíduos analfabetos, com até oito anos de escolaridade ou com mais de oito anos de estudo, respectivamente. A média total encontrada para o Meem foi de 19,3 (±5,0) pontos (Tabela 3). A pontuação máxima obtida foi de 29 pontos, e a mínima, de 9 pontos. Isso representa que houve grande variação entre os resultados obtidos pela aplicação do teste.
Tabela 3 – Análise descritiva dos dados colhidos no Meem (n = 556). Manaus, Amazonas – 2018
Análise descritiva dos dados colhidos dos idosos (n = 556)
Fonte: Elaboração
Conforme denota a Tabela 4, foram ajustados três modelos para análise. O modelo 1 incluiu apenas as variáveis sociodemográficas; ao modelo 2, foi acrescentada a variável AVD; e, ao modelo 3, foi acrescentada a variável Meem. Foram estimados os três modelos encaixados, ou seja, as variáveis foram acrescentadas em relação ao modelo anterior a fim de verificar a melhoria do ajuste. O modelo 3 apresentou o melhor resultado de ajuste com o menor valor do AIC e maior resultado do log da verossimilhança. A variável escolaridade no modelo 3 não foi significativa, influenciada pela inclusão da variável Meem.
Tabela 4 – Análise de associação entre variáveis sociodemográficas (modelo 1), AVD (modelo 2) e Meem (modelo 3). Manaus, Amazonas – 2018
Fonte: Elaboração própria.
* Referência
** Critério de Informação de Akaike (AIC)
*** Logaritmo neperiano da função de verossimilhança
A Tabela 5 apresenta a análise da razão de chances (OR) e intervalo de confiança (IC) na associação entre variáveis sociodemográficas (modelo 1), AVD (modelo 2) e Meem (modelo 3). Os valores das razões de chances e os intervalos de confiança com alfa igual a 0,05.
A variável escolaridade deixou de ser significativa após a inclusão da variável Meem no modelo 3, porém, foi decidido mantê-la no modelo por ser considerada importante na classificação final. Baseado nos parâmetros do modelo 3, há um risco 30 vezes maior de o idoso apresentar déficit cognitivo se for analfabeto, mantidas as demais condições constantes. Ser do sexo feminino aumenta a chance em 85 vezes.
Tabela 5 – Razão de chances (OR) na associação entre variáveis sociodemográficas (modelo 1), AVD (modelo 2) e Meem (modelo 3), Manaus (AM), 2018
A interpretação dos resultados obtidos mostra que existe correlação entre função cognitiva e capacidade funcional na população estudada. Essa correlação é linear. Sendo assim, à medida que a capacidade cognitiva do indivíduo declina, concomitantemente também diminui sua capacidade funcional.
A classificação dos indivíduos quanto ao desempenho do Meem, em alto e baixo, foi estratificada pela escolaridade, pois foram utilizados diferentes pontos de corte para as diferentes quantidades de anos de estudo. Tentou-se, dessa forma, minimizar o viés que poderia ser criado na classificação desses indivíduos por esse fator. Contudo, observou-se que, quanto maior foi o nível de escolaridade, maior também foi a média do Meem. Esses dados seguem o mesmo padrão descrito em estudos18,19,22,38. Além da escolaridade, constatou-se também que o fato de a pessoa viver em zona rural ou urbana não influenciou no desempenho do Meem, não sendo encontrada na literatura referência a essa associação.
Estudos nacionais encontraram diferentes pontos de corte do Meem conforme a escolaridade22. A escolha por adotar pontos de corte conforme a escolaridade diminui a possibilidade de classificar erroneamente idosos que apresentem desempenho cognitivo compatível com seus anos de estudo como portadores de déficit cognitivo39. O Meem é um instrumento de rastreio cognitivo; idosos com pontuação inferior aos valores descritos devem ser encaminhados para avaliação geriátrica e neuropsicológica mais detalhada, para confirmação diagnóstica38,40.
O declínio cognitivo está relacionado a diferentes variáveis biopsicossociais em idosos41. Um fator que contribui substancialmente para as diferenças na performance dos testes cognitivos em diversas populações é a escolaridade42,43. A relação entre escolaridade e demência é apresentada de forma complexa na literatura. O número de anos de estudo tem sido considerado tanto um fator de proteção neuronal quanto um elemento de confusão diagnóstica, já que o desempenho de indivíduos testados com instrumentos de avaliação cognitiva é fortemente influenciado pela escolaridade38,44. De acordo com Converso e Iartielli45, a especificidade e a sensibilidade do Meem são limitadas quando o teste é aplicado em populações com pouca ou nenhuma escolarização formal. Com efeito, na detecção de demência em adultos com boa escolaridade, esse instrumento tem as medidas de sensibilidade e confiança de 92% a 100%46
Para verificar a associação entre capacidade funcional, sexo e escolaridade, foram realizados cruzamentos entre essas variáveis. Na relação entre escolaridade e capacidade funcional, 33% dos idosos analfabetos apresentaram alteração, o que foi parcialmente compatível com o estudo de Lenardt et al.47, no qual se analisou a associação entre a síndrome da fragilidade e o desempenho cognitivo de 737 idosos, evidenciando que as prevalências mais elevadas de baixo desempenho no Meem foram observadas entre indivíduos do sexo feminino, com idade avançada, de baixa escolaridade. Os autores apontaram, ainda, desempenho inferior das idosas analfabetas, e estas apresentaram os escores mais baixos (inferiores a 13 e entre 13 e 17 pontos). Na avaliação da relação entre sexo e o Meem, 24,2% dos homens e 17,5% das mulheres tiveram resultados alterados, constatando que a perda cognitiva foi mais prevalente no sexo masculino em relação ao feminino.
Estudos sobre capacidade funcional, com idosos institucionalizados, apontam maior dependência em relação a idosos que vivem em domicílios. Karsch48 observou independência em 41,6% (n = 52), dependência parcial em 15,2% (n = 19) e dependência total em 43,2% (n = 54). A capacidade funcional do idoso incide em importante indicador do grau de independência, bem como na necessidade de medidas preventivas, fundamentais
nas ações de promoção da saúde, que abreviem os mecanismos que afetam o declínio da habilidade do idoso em desempenhar as diferentes funções físicas e mentais cotidianas. Por conseguinte, as limitações, dependência/independência e adaptações na realização de muitas atividades pelos idosos podem decorrer do processo de envelhecimento ou do aparecimento/evolução de doenças crônico-degenerativas.
Em relação às variáveis demográficas, a pesquisa traz resultados compatíveis com outros estudos relacionados ao envelhecimento. A faixa etária prevalente de 60-64 anos apresenta predominância do sexo feminino, raça/cor branca, estado civil com maior quantidade de casados, seguidos de viúvos25,49,50
Freitas et al.51 observaram uma correspondência entre capacidade funcional e função cognitiva. No presente estudo, 11,3% dos idosos que apresentaram dependência nas AVDs também apresentaram alterações cognitivas. Ser dependente para AVD aumenta em 239% a chance de apresentar alteração no resultado do Meem. Tais resultados apontam uma ligação entre essas duas variáveis, indicando que, se um idoso apresenta alterações na realização de suas AVDs, também poderá sofrer alterações cognitivas, e vice-versa.
O estudo revela significativo percentual de idosos independentes para a realização das AVDs. A maior parte possui capacidade funcional, ou seja, é independente, e uma pequena parcela possui dependência total.
Outrossim, os achados neste estudo revelaram que capacidade funcional e função cognitiva se correlacionam de forma linear. Desse modo, é possível afirmar que, na população estudada, quanto mais baixa foi a função cognitiva de um indivíduo, menor foi a sua capacidade funcional.
Considera-se que este estudo teve suas limitações, uma vez que dele fizeram parte idosos residentes em área urbana de um único município, o que pode não retratar a realidade de uma região ou estado. Aliado a isso, faz-se relevante o desenvolvimento de estudos com maior número de idosos e de contextos municipais e regionais distintos.
1. Concepção do projeto, análise e interpretação dos dados: Aldo Pacheco Ferreira e Karla Geovanna Moraes Crispim.
2. Redação do artigo e revisão crítica relevante do conteúdo intelectual: Aldo Pacheco Ferreira.
3. Revisão e/ou aprovação final da versão a ser publicada: Aldo Pacheco Ferreira e Karla Geovanna Moraes Crispim.
4. Ser responsável por todos os aspectos do trabalho na garantia da exatidão e integridade de qualquer parte da obra: Aldo Pacheco Ferreira.
1. Andrade LM, Sena ELS, Pinheiro GML, Meira EC, Lira LSSP. Políticas públicas para pessoas idosas no Brasil: uma revisão integrativa. Ciênc Saúde Colet. 2013;18(12):3543-52.
2. Cervato AM, Derntl AM, Latorre MRDO, Marucci MFN. Educação nutricional para adultos e idosos: uma experiência positiva em universidade aberta para a terceira idade. Rev Nutr. 2005;18(1):41-52.
3. Teixeira AR, Freitas CLR, Millão LF, Gonçalves AK, Junior BB, Santos AMPV, et al. Relationship between hearing complaint and hearing loss among older people. Int Arch Otorhinolaryngol. 2009;13(1):78-82.
4. Carvalho JAM, Rodriguez-Wong LL. A transição da estrutura etária da população brasileira na primeira metade do século XXI. Cad Saúde Pública. 2008;24(3):597-605.
5. Cesar JA, Oliveira-Filho JA, Bess G, Cegielka R, Machado J, Gonçalves TS, Neumann NA. Perfil dos idosos residentes em dois municípios pobres das regiões Norte e Nordeste do Brasil: resultados de estudo transversal de base populacional. Cad Saúde Pública. 2008;24(8):1835-45.
6. Borges LL, Albuquerque CR, Garcia PA. O impacto do declínio cognitivo, da capacidade funcional e da mobilidade de idosos com doença de Alzheimer na sobrecarga dos cuidadores. Fisioter Pesqui. 2009;16(3):246-51.
7. Bento JA, Lebrão ML. Suficiência de renda percebida por pessoas idosas no município de São Paulo/Brasil. Ciênc Saúde Colet. 2013;18(8):2229-38.
8. Alexandre TS, Cordeiro RC, Ramos LR. Factors associated to quality of life in active elderly. Rev Saúde Pública. 2009;43(4):613-21.
9. Eliopoulos C. Enfermagem gerontológica. 7a ed. Porto Alegre (RS): Artmed; 2011.
10. Dawalibi NW, Goulart RMM, Prearo LC. Fatores relacionados à qualidade de vida de idosos em programas para a terceira idade. Ciênc Saúde Colet. 2014;19(8):3505-12.
11. Wind H, Gouttebarge V, Kuijer PP, Sluiter JK, Frings-Dresen MH. The utility of functional capacity evaluation: the opinion of physicians and other experts in the field of return to work and disability claims. Int Arch Occup Environ Health. 2006;79(6):528-34.
12. Ferreira-Santana R, Batista-Rosa T, Gonçalves-Aquino R, Alexandrino SA, Alves-Santos GL, Araújo-Lobato H. Maintenance of functional capacity in cognitive stimulation subgroups. Invest Educ Enferm. 2016;34(3):492-501.
13. Costa AJL. Metodologias e indicadores para avaliação da capacidade funcional: análise preliminar do Suplemento Saúde da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios PNAD, Brasil, 2003. Ciênc Saúde Colet. 2006;11(4):927-40.
14. Camara F, Gerez A, Miranda ML, Velardi M. Capacidade funcional do idoso: formas de avaliação e tendências. Acta Fisiátrica. 2008;15(4):249-56.
15. Pedrosa R, Holanda G. Correlação entre os testes da caminhada, marcha estacionária e TUG em hipertensas idosas. Rev Bras Fisioter. 2009;13(3):252-6.
16. Shumway-Cook A, Brauer S, Woollacott M. Predicting the probability for falls in community-dwelling older adult using the timed up & go test. Phys Ther. 2000;80(9):896-903.
17. Castro KCM, Guerra RO. Impact of cognitive performance on the functional capacity of an elderly population in Natal, Brazil. Arq Neuro-Psiquiatr. 2008;66(4):809-13.
18. Talmelli LFS, Gratão ACM, Kusumota L, Rodrigues RAP. Nível de independência funcional e déficit cognitivo em idosos com doença de Alzheimer. Rev Esc Enferm USP. 2010;44(4):933-9.
19. Castro SD, Silva DJ, Nascimento ESR, Christofoletti G, Cavalcante JES, Lacerda MCC, Tancredi AV. Alteração de equilíbrio na doença de Alzheimer: um estudo transversal. Rev Neurociênc. 2011;19(3):441-8.
20. Christofoletti G, Oliani MM, Gobbi LTB, Gobbi S, Stella F. Risco de quedas em idosos com doença de Parkinson e demência de Alzheimer: um estudo transversal. Rev Bras Fisioter. 2006;10(4):429-33.
21. Nordin E, Rosendahl E, Lundin-Olsson L. Timed “up & go” test: reliability in older people dependent in activities of daily living-focus on cognitive state. Phys Ther. 2006;86(5):646-55.
22. Bertolucci PHF, Brucki SMD, Campacci SR, Juliano Y. O miniexame do estado mental em uma população geral: impacto da escolaridade. Arq Neuro-Psiquiatr. 1994;52(1):1-7.
23. Almeida OP. Miniexame do estado mental e o diagnóstico de demência no Brasil. Arq Neuro-Psiquiatr. 1998;56(3b):605-12.
24. Lima-Costa MF, Barreto SM. Tipos de estudos epidemiológicos: conceitos básicos e aplicações na área do envelhecimento. Epidemiol Serv Saúde. 2003;12(4):189-201.
25. Crispim KGM, Ferreira AP, Silva TL, Ribeiro EE. Characterization of selfreported communication disorders in elderly women living in Manaus, state of Amazonas, Brazil. Rev Bras Geriatr Gerontol. 2014;17(3):485-95.
26. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cidades IBGE: Manaus [Internet]. Rio de Janeiro (RJ); 2018 [citado em 2019 set 26]. Disponível em: https:// cidades.ibge.gov.br/brasil/am/manaus
27. Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do Amazonas. Administração indireta [Internet]. Manaus (AM); 2017 [citado em 2019 ago 8]. Disponível em: http://www.amazonas.am.gov.br/entidade/agencia-reguladorados-servicos-publicos-concedidos-do-estado-do-amazonas-arsam/
28. Pessoa DGC, Silva PLN. Análise de dados amostrais complexos [Internet]. São Paulo; 2018 [citado em 2020 ago 31]. Disponível em: https://djalmapessoa. github.io/adac/
29. Bolfarine H, Bussab WO. Elementos de amostragem. São Paulo (SP): Edgar Blucher; 2005.
30. Szwarcwald CL, Damacena GN. Amostras complexas em inquéritos populacionais: planejamento e implicações na análise estatística dos dados. Rev Bras Epidemiol. 2008;11(supl. 1):38-45.
31. Kish L. Survey sampling. New York: John Wiley & Sons; 1965.
32. Silva NN. Amostragem probabilística: um curso introdutório. São Paulo (SP): Edusp; 2001.
33. Katz S, Chinn AB. Multidisciplinary studies of illness in aged persons. II. A new classification of functional status in activities of daily living. J Chronic Dis. 1959;9(1):55-62.
34. Katz S, Ford AB, Moskowitz RW, Jackson BA, Jaffe MW. Studies of illness in the aged: the index of ADL: a standardized measure of biological and psychosocial function. JAMA. 1963;185:914-9.
35. Katz S, Downs TD, Cash HR, Grotz RC. Progress in Development of the Index of ADL. The Geront. 1970;10(1):20-30.
36. Katz S, Akpom AC. A measure of primary sociobiological functions. Int J Health Serv. 1976;6(3):493-508.
37. Katz S. Assessing self-maintenance: activities of daily living, mobility, and instrumental activities of daily living. J Am Geriatr Soc. 1983;31(12):721-7.
38. Lourenço RA, Veras RP. Miniexame do estado mental: características psicométricas em idosos ambulatoriais. Rev Saúde Pública. 2006;40(4):712-9.
39. Diniz BSO, Volpe FM, Tavares AR. Nível educacional e idade no desempenho no Miniexame do Estado Mental em idosos residentes na comunidade. Rev Psiquiatr Clín. 2007;34(1):13-7.
40. Brucki SMD, Nitrini R, Caramelli P, Bertolucci PHF, Okamoto IH. Sugestões para o uso do miniexame do estado mental no Brasil. Arq Neuro-Psiquiatr. 2003;61(3b):777-81.
41. Pérez-Díaz LAG, Calero MD, Navarro-González E. Prediction of cognitive impairment in the elderly by analysing their performance in verbal fluency and in sustained attention. Rev Neurol. 2013;56(1):1-7.
42. Chin AL, Negash S, Xie S, Arnold SE, Hamilton R. Quality, and not just quantity, of education accounts for differences in psychometric performance between African Americans and white non-Hispanics with Alzheimer’s disease. J Int Neuropsychol Soc. 2012;18(2):277-85.
43. Melo DM, Barbosa AJG. O uso do miniexame do estado mental em pesquisas com idosos no Brasil: uma revisão sistemática. Ciênc Saúde Colet. 2015;20(12):3865-76.
44. Coelho FGM, Vital TM, Novais IP, Costa GA, Stella F, Santos-Galduroz RF. Desempenho cognitivo em diferentes níveis de escolaridade de adultos e idosos ativos. Rev Bras Geriat Gerontol. 2012;15(1):7-15.
45. Converso MER, Iartelli I. Caracterização e análise do estado mental e funcional de idosos institucionalizados em instituições públicas de longa permanência. J Bras Psiquiatr. 2007;56(4):267-72.
46. Valle EA, Castro-Costa E, Firmo JOA, Uchoa E, Lima-Costa MF. Estudo de base populacional dos fatores associados ao desempenho no miniexame do estado mental entre idosos: Projeto Bambuí. Cad Saúde Pública. 2009;25(4):918-26.
47. Lenardt MH, Michel T, Wachholz PA, Borghi AS, Seima MD. O desempenho de idosas institucionalizadas no miniexame do estado mental. Acta Paul Enferm. 2009;22(5):638-44.
48. Karsch UM. Idosos dependentes: famílias e cuidadores. Cad Saúde Pública. 2003;19(3):861-6.
49. Ikegami ÉM, Souza LA, Tavares DMS, Rodrigues LR. Capacidade funcional e desempenho físico de idosos comunitários: um estudo longitudinal. Ciênc Saúde Colet. 2020;25(3):1083-90.
50. Azevedo L, Oliveira KMV, Nunes VMA, Alchieri JC. Perdas da capacidade funcional em idosos institucionalizados no município de Natal/RN. Rev Pesqui. 2014;6(2):485-92.
51. Freitas RS, Fernandes MH, Coqueiro RS, Reis WM Jr, Rocha SV, Brito TA. Capacidade funcional e fatores associados em idosos: estudo populacional. Acta Paul Enferm. 2012;25(6):933-9.
Recebido: 6.3.2019. Aprovado: 22.7.2020.
Roberta Lima Machado de Souza Araújoa
Edna Maria de Araújob
Hilton Pereira da Silvac
Carlos Antônio de Souza Teles Santosd
Felipe Souza Nerye
Djanilson Barbosa dos Santosf
Betânia Lima Machado de Souzag
Resumo
A exclusão social à qual as comunidades quilombolas estão expostas, em todo o território brasileiro, tem favorecido sua vulnerabilidade socioeconômica, ambiental, o que se traduz em precárias condições de vida e saúde. Este estudo tem como objetivo analisar as condições de vida, saúde e morbidade referidas pelas comunidades quilombolas do semiárido baiano. Trata-se de um estudo transversal realizado nas comunidades quilombolas de Matinha dos Pretos e Lagoa Grande no município de Feira de Santana (BA), com indivíduos adultos (≥ 18 anos). Os dados foram coletados por meio da aplicação de três instrumentos e analisados utilizando-se o pacote estatístico Stata 14.0. Resultados: dos 864 entrevistados, 63,0% são do sexo feminino; 47,8%, casados, apresentando uma média de idade de 42,6 anos (IC 95%: 41,1 – 44,2), e de escolaridade, variando de 6 a 7 anos de
a Mestra em Saúde Coletiva. Docente da Universidade Estadual de Feira de Santana. Feira de Santana, Bahia, Brasil.
E-mail: robertamachado.psi@gmail.com
b Doutora em Saúde Pública. Docente da Universidade Estadual de Feira de Santana. Feira de Santana, Bahia, Brasil.
E-mail: ednakam@gmail.com
c Doutor em Antropologia. Docente da Universidade Federal do Pará. Belém, Pará, Brasil. E-mail: hdasilva@ufpa.br
d Doutor em Saúde Pública. Docente da Universidade Estadual de Feira de Santana. Feira de Santana, Bahia, Brasil.
E-mail: carlosateles@yahoo.com.br
e Doutor em Epidemiologia em Saúde Pública. Docente da Universidade Estadual de Feira de Santana. Feira de Santana, Bahia, Brasil. E-mail: enf.felipe.nery@gmail.com
f Doutor em Saúde Pública. Docente da Universidade Estadual de Feira de Santana. Feira de Santana, Bahia, Brasil.
E-mail: djanilsonb@gmail.com
g Mestra em Planejamento Territorial. Docente do Instituto Federal Baiano. Salvador, Bahia, Brasil. E-mail: betaniauefs@gmail.com
Endereço para correspondência: Universidade Estadual de Feira de Santana. Av. Transnordestina, s/n, Novo Horizonte. Feira de Santana, Bahia, Brasil. CEP: 44036-900. E-mail: rlmsaraujo@uefs.br
estudo em média. A maioria realiza trabalhos informais, especialmente nas funções relacionadas à agricultura. Em relação à vulnerabilidade ambiental, é de se destacar que 99,5% das casas não possuem rede de esgoto. Observou-se que a maioria raramente procura os serviços de saúde. As doenças de maior prevalência foram: doenças da coluna, doenças parasitárias e hipertensão arterial. Os principais agravos relacionados à saúde mental foram: ansiedade (n = 231); transtornos mentais comuns (n = 159) e fobias (n = 107). Os resultados demonstraram que as comunidades quilombolas de Feira de Santana (BA) encontram-se vulnerabilizadas, condição que revela a necessidade de intervenções sociais e de saúde, com vistas à melhoria da condição de vida e saúde dos quilombolas.
Palavras-chave: Perfil epidemiológico. Condição de vida. Grupos com ancestrais do continente africano.
The social exclusion to which quilombola communities are exposed throughout Brazil has favored their socioeconomic and environmental vulnerability, which translates into precarious living and health conditions. This study analyzed the conditions of life, health and morbidity reported by Quilombola communities in the semiarid region of Bahia. Matinha dos Pretos and Lagoa Grande in the municipality of Feira de Santana, Bahia, with adult individuals (≥ 18 years). Data were collected through the application of three instruments and analyzed using the statistical package Stata 14.0. Results: out of the 864 respondents, 63.0% are female, 47.8% are married, with average age 42.6 years (95% CI: 41.1 – 44.2), and education varying from 6 to 7 years of study on average. Most carry out informal jobs, especially in functions related to agriculture. Regarding environmental vulnerability, 99.5% of the houses had no sewage system. The majority rarely sought health services. Their most prevalent diseases are: spine diseases, parasitic diseases and high blood pressure. The main problems related to mental health were: anxiety (n = 231); common mental disorders (n = 159) and phobias (n = 107). The results showed that the quilombola communities of Feira de Santana are vulnerable, which implies a need for social and health interventions to improve the living and health conditions of Quilombolas.
Keywords: Epidemiological profile. Living conditions. Groups with ancestors from the African continent.
La exclusión social a la que están expuestas las comunidades de quilombolas, en Brasil, ha favorecido su vulnerabilidad socioeconómica y ambiental, lo que se traduce en condiciones precarias de vida y salud. Este estudio tiene como objetivo analizar las condiciones de vida, salud y morbilidad reportadas por las comunidades de quilombolas en la región semiárida de Bahía. Este es un estudio transversal realizado en las comunidades de quilombolas de Matinha dos Pretos y de Lagoa Grande en el municipio de Feira de Santana (BA), con individuos adultos (≥ 18 años). Para recolectar los datos se utilizó tres instrumentos, y para analizarlos se aplicó el software Stata 14.0. De los 864 encuestados, el 63,0% son mujeres, el 47,8% están casados, con una edad promedio de 42,6 años (IC 95%: 41,1 – 44,2), y el nivel de estudios varía de 6 a 7 años de estudios. La mayoría realiza trabajos informales, especialmente en funciones relacionadas con la agricultura. Respecto a la vulnerabilidad ambiental, se destaca que el 99,5% de las viviendas no cuentan con alcantarillado. Se observó que la mayoría rara vez busca servicios de salud.
Las enfermedades más prevalentes fueron: enfermedades de la columna, enfermedades parasitarias y presión arterial alta. Los principales problemas relacionados con la salud mental fueron: ansiedad (n = 231); trastornos mentales comunes (n = 159) y fobias (n = 107). Los resultados mostraron que las comunidades de quilombolas de Feira de Santana-BA son vulnerables, una condición que revela la necesidad de intervenciones sociales y de salud, con miras a mejorar las condiciones de vida y salud de quilombolas.
Palabras clave: Perfil epidemiológico. Condición de vida. Grupos con ancestros del continente africano.
Os quilombolas se caracterizam como grupos com presunção de ancestralidade negra, com características étnico-raciais bem específicas, que possuem trajetórias social, cultural e territorial bem definidas1. Trata-se de uma população que, mesmo tendo sido alvo de políticas públicas a partir do ano de 2003, especialmente com a implantação do Programa Brasil Quilombola (PBQ), ainda sofre com o pouco acesso à água encanada, ausência de esgotamento
sanitário e coleta de lixo, e insuficiente cobertura dos serviços de saúde, sobretudo das unidades básicas a esses grupos2.
Reconhecidamente, as comunidades quilombolas do Brasil se encontram vulnerabilizadas em suas condições de vida e saúde, fato que representa um relevante problema social e de saúde pública, não só pela precária condição socioeconômica, educacional e ambiental a que estão expostas, como também pelo impacto desses fatores na garantia de direitos sociais, culturais e políticos.
Pesquisa realizada pela Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir) no ano de 2012 constatou que 75,6% das famílias quilombolas brasileiras estão em situação de extrema pobreza, e que 78% dependem de benefícios de transferência direta de renda do governo federal2
No Brasil, estima-se que existam atualmente 1,7 milhão de quilombolas, 63% deles localizados no Nordeste brasileiro2. Em relação ao estado da Bahia, destaca-se a existência de 612 comunidades, caracterizando-o como o estado com o maior número de quilombolas no país3. No que tange às comunidades remanescentes de quilombos do município de Feira de Santana (BA), quais sejam, Matinha dos Pretos e Lagoa Grande, verifica-se que as duas estão devidamente reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares, possuindo um número elevado de habitantes, e localizadas em distritos (zona rural) do município. Ademais, essas comunidades possuem em comum a história de criação dos seus quilombos, estando vinculada ao processo de lutas e conflitos entre escravos e senhores de terras, no período colonial, mantendo similaridade com o processo de criação de grande parte dos quilombos no estado da Bahia4
Diversos estudiosos demonstram a relevância do recorte étnico-racial nas pesquisas, uma vez que se torna possível discutir questões relacionadas às desigualdades sociais e de saúde entre as populações5-7. São diversos os resultados dessa discussão, particularmente quando se verifica o tratamento diferenciado atribuído aos segmentos por raça/cor da pele no Brasil, no qual é possível observar um alto nível de desenvolvimento do país, quando considerados os indicadores sociais da população branca e, de muito baixo desenvolvimento, quando se observam os indicadores sociais da população negra8
Um estudo transversal de base populacional, a respeito de 169 comunidades quilombolas reconhecidas no país entre 1995 e 2009, residentes nas seguintes localidades: Norte, 53,8% (Amapá e Pará); Nordeste, 30,5% (Bahia, Maranhão, Pernambuco, Piauí e Sergipe); Sudeste, 3,8% (Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo); Sul, 0,3% (Rio Grande do Sul); e Centro-Oeste, 11,7% (Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso), revelou que são prevalentes as condições de precariedade nessas comunidades, que apresentam uma renda
per capita familiar de R$ 205,85,valor considerado defasado quando comparado com o salário mínimo vigente na época do estudo (R$ 888,00), sendo que 61% das famílias dependiam do complemento financeiro do Programa Bolsa Família (PBF), bem como 31,4% relataram ter precisado de outros benefícios eventuais, como cestas básicas2 Ademais, verificaram péssimas condições habitacionais, de esgotamento sanitário e água encanada, presentes em menos da metade dos domicílios2.
O quadro de distribuição das doenças de maior prevalência em afrodescendentes revela que características de ordem genética influenciam no padrão de adoecimento, mas são os fatores socioeconômicos – situação de pobreza e exclusão social – os que mais incidem no processo saúde-doença da população negra, levando-se em conta, por exemplo, doenças ligadas à pobreza, como é o caso da tuberculose, das verminoses, da desnutrição, entre outras9. A despeito das evidências citadas, ainda são escassos os estudos que deram visibilidade às condições de vida e saúde das populações quilombolas localizadas no semiárido baiano, com vistas à elaboração e à implementação de políticas públicas. Dessa forma, este trabalho teve como objetivo traçar o perfil das condições de vida, saúde e morbidade referidas pelas comunidades quilombolas daquela região.
Trata-se de estudo epidemiológico de corte transversal, de base populacional, de fonte primária, que analisou duas comunidades localizadas na zona rural do município de Feira de Santana (BA): Matinha dos Pretos e Lagoa Grande, no período entre julho e setembro de 2016. É importante destacar que essas duas comunidades se encontram certificadas pela Fundação Cultural Palmares. Os critérios de inclusão adotados neste estudo foram: a comunidade possuir certificação pela Fundação Cultural Palmares e a população estudada ser de adultos (≥ 18 anos). Para o cálculo do tamanho amostral, foi considerada a população total de adultos acima de 18 anos, considerando uma prevalência de 50%, em face da heterogeneidade dos eventos mensurados, precisão de 5% e intervalo de confiança de 95% (IC 95%), corroborando com outros estudos de base populacional em comunidades quilombolas no Brasil5. A partir do quantitativo populacional das duas comunidades, Matinha dos Pretos (n = 8.855) e Lagoa Grande (n = 12.077), foi estimado um tamanho amostral de 742 pessoas, por meio do cálculo realizado pelo programa estatístico OpenEpi. No entanto, acrescentou-se 10% do total da amostra, considerando possíveis perdas, o que totalizou 816 indivíduos. Contudo, efetivamente foram entrevistados 864 indivíduos.
Os dados deste estudo derivam da aplicação de três instrumentos. O primeiro foi baseado no Projeto COMQUISTA: Comunidades Quilombolas de Vitória da Conquista (BA)5. Avaliação de saúde e seus condicionantes, com vistas a verificar as condições socioeconômicas, demográficas, ambientais, do estado de saúde, utilização dos serviços de saúde, bem como a prevalência de doenças e agravos à saúde. O segundo instrumento foi o Self-Reporting Questionnaire (SRQ-20), para verificar a suspeição de transtornos mentais10. O terceiro foi o acrônimo das quatro perguntas: Cut Down, Annoyde by Criticims, Guilty e Eye-Open (Cage), que trata da detecção de problemas derivados do uso abusivo de álcool11.
A técnica de amostragem sistemática foi utilizada para seleção dos indivíduos, tendo sido desenvolvida da seguinte forma: primeiro, a partir da escolha de um ponto de referência na comunidade, realizaram-se entrevistas de duas em duas residências, uma vez que os domicílios não possuíam numeração; posteriormente, todos os residentes com 18 anos ou mais foram convidados a participar do estudo.
Antes da coleta de dados, foi realizado estudo-piloto, sensibilização das comunidades e treinamento dos entrevistadores. O estudo-piloto foi realizado com 74 adultos acima de 18 anos em uma comunidade negra rural conhecida como Olhos D’água, localizada próxima a uma das comunidades quilombolas do estudo. Assim, conseguiu-se testar os instrumentos selecionados para a pesquisa, sendo realizada uma melhor adequação das questões e avaliado o grau de aceitação da pesquisa e o tempo médio despendido nas entrevistas.
Com a finalidade de levantar as condições de vida e saúde das comunidades quilombolas, foram feitas análises descritivas – frequências absolutas e relativas das variáveis qualitativas, bem como as medidas de tendência central e seu respectivo intervalo de confiança a 95% das variáveis contínuas, de dados demográficos, socioeconômicos, as características das condições ambientais e da frequência da situação de saúde e hábitos de vida e saúde, além da estimativa da prevalência das doenças e agravos. As estimativas foram obtidas por meio do pacote estatístico Stata Corporation Colage (Stata), na versão 14.0.
Previamente, foi realizada uma apresentação do projeto às lideranças comunitárias, a seguir apresentado também às comunidades, tendo sido obtido o consentimento de ambos. Esse projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa, protocolado pelo Certificado de Apresentação para Apreciação Ética por meio do número 57412416.4.0000.0053, obedecendo às exigências da Resolução 466/12. A participação no estudo foi voluntária e mediante assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido.
Participaram do estudo 864 adultos, 484 residentes na comunidade de Matinha dos Pretos, e 380 na de Lagoa Grande. Observou-se que a frequência do sexo feminino é maior nas duas comunidades. Em relação à situação conjugal, na comunidade de Matinha dos Pretos, os casados são maioria entre os quilombolas (52,6%), enquanto que na de Lagoa Grande, a maioria das pessoas não possui companheiros (50,5%). Verificou-se que a média de idade em ambas as comunidades é de 42,6 anos (IC 95%: 41,1 – 44,2), variando de 18 a 97 anos. Contudo, a média de anos de estudo diverge: é de 7,2 anos (IC 95%: 6,8 – 7,3) na comunidade de Matinha dos Pretos, e de 6,3 anos (IC 95%: 5,9 – 6,7) na de Lagoa Grande. Nas duas comunidades, mais de 60% dos trabalhadores realizam atividades informais, especialmente nas funções relacionadas à agricultura. Em relação à renda média familiar, observa-se que não há diferenças estatisticamente significativas entre as duas comunidades. Matinha dos Pretos apresenta renda média familiar de R$ 699,99 (IC 95%:
662,20 – 737,78), enquanto que a comunidade de Lagoa Grande, de R$ 732,82 (IC 95%:
686,25 – 779,41) em 2016. Todos os entrevistados se autodeclaram quilombolas e negros (entendendo negro enquanto categoria social, que inclui pretos e pardos). No que concerne aos beneficiários de programas sociais, a Lagoa Grande (25,6%) tem uma proporção similar à da comunidade de Matinha dos Pretos (24,6%) (Tabela 1).
Tabela 1 – Caracterização das condições demográficas e socioeconômicas das comunidades quilombolas. Feira de Santana, Bahia, Brasil – 2016 (continua)
Tabela 1 – Caracterização das condições demográficas e socioeconômicas das comunidades quilombolas. Feira de Santana, Bahia, Brasil – 2016 (conclusão)
Fonte: Elaboração própria.
Considerou-se o salário mínimo de 2016: R$ 888,00
II Bolsa Família é um benefício do governo federal voltado às famílias de baixa renda
III Benefício de Prestação Continuada é um benefício voltado a idosos que não contribuíram e estão em situação de extrema vulnerabilidade socioeconômica e a pessoas com deficiência
IV Outros benefícios sociais dizem respeito aos benefícios eventuais, tais como: cestas básicas, enxovais, cisternas
Quanto às condições ambientais (características habitacionais e sanitárias), observa-se que mais de 90% das casas, em ambas as comunidades, possuem banheiro, feito de tijolos, e os residentes têm acesso à água encanada. Também se verificou que na comunidade de Lagoa Grande, a frequência de casas com coleta de lixo foi menor (50,7%) quando comparada à de Matinha dos Pretos (91,5%). É de se destacar que, em ambas as comunidades, mais de 99% das casas não têm rede de esgoto (Tabela 2).
No que se refere às condições de saúde (estado de saúde e utilização dos serviços de saúde), constatou-se que apenas na comunidade de Matinha dos Pretos, a maioria (52,4%) avaliou o próprio estado de saúde como “bom”. No entanto, em ambas as comunidades, aproximadamente 40% das pessoas fazem uso de medicações para tratamentos de doenças crônicas, especialmente para controle de hipertensão e diabetes, assim como mais de 60% raramente procuram os serviços de saúde, e mais de 70%, o dentista (Tabela 3).
Tabela 2 – Características das condições ambientais das comunidades quilombolas.
Feira de Santana, Bahia, Brasil – 2016
Tabela 3 – Frequências da situação de saúde e hábitos de vida das comunidades quilombolas. Feira de Santana, Bahai, Brasil – 2016
A Tabela 4 apresenta o comparativo da prevalência de doenças e agravos entre as comunidades. No geral, as doenças e agravos de maior prevalência foram – em ordem: doenças da coluna, ansiedade, doenças parasitárias e hipertensão arterial. Observou-se que as doenças da coluna se distribuíram igualmente entre as comunidades; já entre aqueles que sofriam de ansiedade, pouco mais da metade era da comunidade de Lagoa Grande. Além disso, de todos os casos de hipertensão arterial, 61,7%, eram da comunidade de Matinha dos Pretos. Saliente-se que os casos de tuberculose (n = 3) foram observados na comunidade de Lagoa Grande.
Tabela 4 – Prevalência das doenças e agravos autorreferidas nas comunidades quilombolas. Feira de Santana, Bahia, Brasil – 2016
Fonte: Elaboração própria.
Nota: os participantes poderiam ter mais de um diagnóstico de doenças e agravos no conjunto de morbidades que foram pesquisadas.
Os resultados do presente estudo evidenciam o perfil epidemiológico das comunidades quilombolas do município de Feira de Santana (BA) e revelam um indicador sensível da condição de vida desse grupo específico. Esses achados corroboram com outros estudos realizados com a mesma população em outras localidades do Brasil5,7,9,12.
O resultado de prevalência do sexo feminino (61,9%) sobre o sexo masculino acompanha o de outros estudos com comunidades quilombolas5,7,13. Entretanto, nas populações quilombolas da Paraíba, essa variável demográfica difere, sendo um pouco elevada para o sexo masculino (51,5%). Além disso, a faixa etária mais prevalente no presente estudo foi de 30 a 39 anos (25,8%), faixa equivalente à encontrada na comunidade quilombola de Curiaú, Macapá (AP)14
No que se refere à situação conjugal, observou-se que a proporção é inferior em relação a outras pesquisas. Neste estudo, 50,9% das pessoas relataram ter companheiro, porém outros achados mostram uma prevalência acima de 60%, chegando até a 81,7% do total da população5,7. Esses dados estão, possivelmente, relacionados com a faixa etária das comunidades-referência deste estudo, que é mais jovem.
Quanto à condição socioeconômica, evidenciou-se que a renda familiar (per capita) média das famílias quilombolas não ultrapassa um salário mínimo (R$ 888,00), condição verificada em todas as outras comunidades analisadas. Isso posto, fica evidente que o quesito renda deixa em desvantagem social a população afrodescendente, aparecendo como fator de risco elevado para aquisição de doenças e adoecimento por um período mais prolongado15. Reconhecidamente, a renda familiar média das comunidades quilombolas do Nordeste do país é elevada. É possível que haja contribuição do fato de a região Nordeste ser a área com maior acesso ao PBF (69,1%)2, aspecto que possibilita às famílias quilombolas nordestinas complementarem a renda.
Por outro lado, observa-se que, a despeito do direito de participar de programas de ajuda social, grande parte das famílias analisadas neste estudo não recebe ajuda financeira do governo federal, mesmo compondo a relevante parcela que não se encontra trabalhando no momento (75,4%). Ou seja, muitas pessoas vulnerabilizadas ainda se encontram desassistidas pelas políticas públicas existentes, situação presenciada em outras comunidades quilombolas no país2. Esse contexto demonstra, mais uma vez, a ineficácia das políticas públicas existentes para grupos populacionais mais vulneráveis.
Neste ensejo, evidenciam-se as dificuldades atuais relacionadas à implementação, de fato, do PBQ, tendo em vista que, mesmo com esforços e recursos de várias secretarias, não se tem alcançado a melhoria das condições socioeconômicas da sua população-alvo.
Além disso, o fato de a maioria das famílias quilombolas de Feira de Santana não receber o Bolsa Família pode estar relacionado com problemas de gestão municipal, em identificar as reais necessidades dessa população.
Outro achado relevante desta pesquisa, que reitera a literatura, diz respeito à situação de trabalho dos quilombolas: dos que trabalham atualmente (60,3% no total), 44,2% são trabalhadores que não possuem vínculos empregatícios, portanto, estão inseridos em atividades informais. Contexto que corresponde à realidade de todas as comunidades de remanescentes de quilombo, com destaque para as ocupações informais de lavrador e agricultor, que aparecem em maior proporção7,13,16,17
Por sua vez, o baixo nível educacional vem sendo discutido como um dos fatores principais para a manutenção do ciclo de pobreza e da situação de informalidade do trabalho da população afrodescendente. Autores sublinham ainda que as vulnerabilidades das comunidades quilombolas estudadas estão associadas com baixos níveis de escolaridade e concentração em classes econômicas mais baixas18. Destarte, constata-se que a população branca possui, em média, dois anos de estudo a mais do que a população negra, sendo que os negros, em geral, não ultrapassam 5,7 anos, com acesso mais restrito à educação formal, ocupando postos de trabalho de menor prestígio, estando muitos trabalhadores negros em situação de informalidade19.
Nesse sentido, observou-se que, nas duas comunidades analisadas, existe uma proporção significativa de pessoas que não possuem mais de oito anos de estudo (76,4%), constatação semelhante à de outro estudo realizado com quilombolas da Bahia (64,3%)5 Contudo, essa taxa se mostra superior quando comparada à de quilombolas do Rio Grande do Sul, em que 80% da população possui menos de oito anos de estudo20. O nível educacional encontrado nessas comunidades pode explicar, em parte, o racismo estrutural ao qual elas estão submetidas e o fato de as mesmas não conseguirem uma ocupação de trabalho de maior prestígio.
Muitos estudos revelam que a condição ambiental em que vivem os quilombolas não corresponde às condições adequadas para a sobrevivência, em vista de suas habitações em situação precária2,5-7. Todavia, a grande parcela dos domicílios das comunidades quilombolas do estudo foi feita com material de alvenaria (95,7%), possuindo banheiro interno (93,7%) e água tratada, oriunda da rede geral (88,3%), condições que diferem da realidade de outras comunidades.
Em outros territórios quilombolas da Bahia, 82,9% deles ainda possuem paredes de adobe, sendo que 75,3% não possuem banheiro e 88% não possuem água encanada5,
assim como em comunidades remanescentes de quilombos do Macapá (AP), 80,9% das casas são de madeira14, realidade semelhante à do estado do Pará, em que 87,5% dos domicílios são também de madeira e não possuem água encanada (72,5%)21. Essa disparidade provavelmente se dá devido a questões socioeconômicas próprias dessas regiões, pelo fato de essas comunidades quilombolas se encontrarem localizadas geograficamente em territórios de difícil acesso, condição que facilita o isolamento social desses grupos.
Em relação à distribuição de energia elétrica, 99,1% dos entrevistados desta pesquisa possuem iluminação proveniente de rede geral, realidade ratificada por todas as outras comunidades quilombolas no país, condição provavelmente decorrente dos esforços do Programa Luz para Todos2.
Ademais, a situação sanitária existente em grande parte dos territórios de quilombolas deixa esses grupos específicos sob risco de contrair doenças e agravos à saúde. Houve indicativo de que 99,5% das residências não possuem esgotamento sanitário, tendo o destino dos dejetos, em sua maioria, para fossas rudimentares. Esses achados corroboraram com a realidade de todas as comunidades quilombolas do Brasil5,7,9,17,21
Todavia, concernente à coleta de lixo nas comunidades participantes deste estudo, 57,9% dos domicílios não possuem coleta de lixo regular, sendo o lixo queimado ou jogado em terrenos, proporção inferior quando comparada aos estudos realizados em outros territórios quilombolas da Bahia, em que 93,4% do lixo é queimado ou enterrado em terrenos, situação compartilhada por comunidades de outros estados, como o Pará (87,5%)21 e a Paraíba (86,0%)7. Dado o contexto, é possível que essa diferença esteja alicerçada no fato de as comunidades quilombolas do município de Feira de Santana (BA) se localizarem em áreas não tão distantes de grandes centros urbanos, e as duas comunidades possuírem lideranças comunitárias atuantes, condição que já resultou na aquisição de muitos recursos oriundos de políticas públicas nacionais e locais.
Frente às constatações relacionadas às variáveis das condições de saúde, verificouse que no quesito autoavaliação de saúde, 50,4% dos sujeitos pesquisados autoavaliaram a saúde como boa, e 44,9% como regular. Esses achados apontam para o mesmo sentido da pesquisa de autoavaliação de saúde e fatores associados, realizada em 2014, no município de Vitória da Conquista (BA), na qual se constatou uma taxa de 44,5% de autoavaliação em saúde como boa, e 43,1% como regular, tendo sido identificada associação dessa variável com dimensões sociodemográficas, hábitos de vida, suporte social e situação de saúde22. Além desses trabalhos, outras pesquisas trazem resultados semelhantes àqueles supracitados,
como no quilombo de Alcântara (MA) (2014), em que 37% dos sujeitos autoavaliaram sua saúde como boa, e 48,1% como regular23.
Outros achados importantes referem-se às variáveis mais ligadas ao estilo de vida, que também conseguem expressar o perfil das comunidades quilombolas. No tocante ao uso de medicação, observou-se que 39,7% dos entrevistados fazem uso de algum medicamento, sendo as medicações para tratamento de doenças crônicas, especialmente hipertensão e diabetes, as mais utilizadas (24,1%). Resultado similar ao de uma pesquisa realizada no sudoeste da Bahia, em 2013, para verificar a prevalência de utilização de medicamentos pela população quilombola (41,9%), em que se constatou também que o uso é mais prevalente nas mulheres quilombolas (50,3%)24
Aponte-se, ainda, que foi registrado nesta pesquisa um consumo de álcool de 17,3 %, com padrão caracterizado de leve a moderado, resultado inferior a de outras pesquisas com outras comunidades remanescentes de quilombo, as quais relataram um consumo médio de 40%13. Um estudo transversal, em 2011, envolvendo 750 indivíduos quilombolas do interior da Bahia, com idades acima de 18 anos, verificou uma prevalência de consumo de álcool de 41,5%, sendo que 10,7% apresentaram um padrão de consumo de risco25 Diante dessas constatações, verifica-se uma disparidade de proporção do consumo de álcool, tendo sido encontrado nas comunidades quilombolas analisadas no presente estudo um consumo relativamente inferior, quando comparadas a de outras comunidades. No entanto, a prevalência inferior constatada neste estudo pode se dever ao possível constrangimento dos entrevistados em admitir o consumo de álcool.
Já em relação ao uso de cigarro, constatou-se uma prevalência de 10,6%, estimativa também menor quando comparada a de outros estudos realizados com adultos quilombolas, em que se verificou um consumo médio de 19,5%18. Contrária a esses achados, uma pesquisa nacional para triagem da depressão em comunidades quilombolas, realizada em 2014, observou uma prevalência superior de uso de cigarro (26,4%)26. Essa proporção maior foi observada, possivelmente, pelo fato de ter sido uma pesquisa de cunho mais abrangente, a qual considerou um valor médio de todas as comunidades quilombolas do Brasil.
A respeito da saúde bucal dos quilombolas do presente estudo, verificou-se que 57,1% relataram ter tido problemas com cáries ou realizado procedimento de canal, bem como 32,9% disseram já ter extraído mais de cinco dentes, achados que expressam a condição social precária em que vivem os quilombolas e a necessidade relevante de serviços odontológicos nessas localidades. Tais constatações se coadunam às de uma pesquisa com uma das comunidades estudadas neste trabalho, Matinha dos Pretos, com 176 indivíduos, do ano de 2006,
concernente à avaliação da existência de doença periodontal, em que foi constatado que 24,4% desses sujeitos a possuíam, condição associada a fatores socioeconômicos e biológicos, especialmente no que tange à higiene bucal inadequada e à idade elevada27. Contudo, esse resultado se mostra inferior quando comparado à prevalência de doença periodontal na comunidade quilombola de Patioba (SE) (75,8%)28
Além disso, outros achados enfatizam essa condição de saúde bucal das populações quilombolas no país. Na comunidade quilombola de Santo Antônio do Guaporé (RO), por exemplo, 48,3% das pessoas necessitam de prótese superior, 72,4% de prótese inferior, e 17,2% da combinação de ambas as próteses29. Ademais, vale destacar a primeira investigação relativa a comportamento em saúde bucal realizada junto à comunidade quilombola de Kalunga, localizada em Goiás, que ocorreu em 2002, em que foi evidenciado um dado alarmante: dos 298 quilombolas examinados, apenas 26,5% estavam livres de cáries30. Diante do exposto, é possível verificar que a condição de precariedade relativa à saúde bucal de quilombolas se mantém em diversas localidades e se apresenta como um problema a ser superado.
Com base na análise da variável utilização dos serviços de saúde, comprovou-se que, no referido trabalho, a indicação de frequência “raramente” (67,3%) prevaleceu, tendo sido relatado que o último exame ou consulta realizada ocorrera havia mais de um mês da data de realização da pesquisa (81,4%). Achados que corroboram com a realidade de outras comunidades quilombolas, na medida em que a proporção da procura por serviços de saúde deu-se na mesma condição e pelo mesmo motivo: raramente e só em situações emergenciais. Por conseguinte, observou-se que 81,8% dos quilombolas do Boqueirão (BA)13, bem como 70,4% da comunidade de Alcântara (MA), só procuravam os serviços de saúde raramente e na condição de urgência14.
Essa situação também é evidenciada por meio dos resultados de um estudo realizado no sudoeste da Bahia, com comunidades quilombolas, em 2013, que teve o objetivo de identificar a prevalência da utilização dos serviços de saúde. Nesse estudo, constatou-se que 57,1% usaram algum serviço de saúde nos últimos 12 meses anteriores à pesquisa, sendo que o fato de estar doente foi o principal motivo da procura (46,3%), assim como se identificou que as mulheres quilombolas são as que mais utilizam os serviços de saúde, as quais avaliaram a saúde como regular, ruim e muito ruim30. Diante de tais evidências, torna-se clara a necessidade de melhorar a prestação de serviços de saúde a essa população.
Sublinhe-se ainda que, no presente estudo, a procura por dentista foi inferior à procura por serviços de saúde, tendo uma proporção relevante de 72,1% da resposta “raramente”.
É um achado semelhante ao encontrado em outra pesquisa realizada no estado de Rondônia, em 2011, em que se observou que 37,9% tinham procurado por serviços odontológicos e, mesmo assim, havia mais de três anos29. Realidade que aponta, também, para a dificuldade das condições de acesso desses grupos aos serviços odontológicos e a precariedade das condições bucais.
Dentre as doenças e os agravos mais recorrentes, foi possível observar que a taxa de prevalência de transtornos mentais comuns (TMC) foi, em média, 10% maior na comunidade de Matinha dos Pretos quando comparada à da outra comunidade quilombola estudada.
Essa proporção maior poderia ser atribuída ao fato de a comunidade de Matinha dos Pretos possuir uma renda familiar inferior à da comunidade de Lagoa Grande; a relação entre menor renda e TMC já foi encontrada em outros estudos com populações vulneráveis socioeconomicamente10
Referente a doenças de ossos (16,3%) e coluna (43,6%), a frequência mais elevada ocorreu em Lagoa Grande, assim como foi mais alta a prevalência de doenças parasitárias (37,6%), sendo superior à da outra comunidade. Essa estimativa mais elevada de doenças de ossos e coluna na comunidade de Lagoa Grande está, possivelmente, relacionada ao fato de que essa localidade tem mais trabalhadores em situação de informalidade, realizando trabalhos de cunho mais braçal do que na outra comunidade, assim como o motivo da maior proporção de doenças parasitárias é devido, provavelmente, à taxa elevada de ausência de coleta de lixo (49,2%) e de saneamento básico (99,7%).
Outros achados importantes do presente estudo se referem às doenças crônicas. Nesse agrupamento, estão incluídas aquelas que tiveram maior prevalência, como hipertensão (22,3%), diabetes (7,8%), doenças cardíacas (5,9%) e doenças do aparelho circulatório (7,5%).
É possível verificar que os quilombolas de Matinha dos Pretos apresentam uma maior prevalência de doenças crônicas. Esse fato pode estar associado a um estilo de vida menos saudável, especialmente no que diz respeito ao consumo de alimentos e à prática de exercícios físicos, bem como ao nível de educação em saúde da comunidade sobre a influência desses aspectos no aparecimento de doenças crônicas.
A prevalência de hipertensão (22,3%) em ambas as comunidades é semelhante à do resultado encontrado no estudo realizado com outras populações quilombolas da Bahia (23%)13. Todavia, essa prevalência se mostrou inferior a de outras pesquisas realizadas com quilombolas do Maranhão (70,4%)23, do Rio Grande do Sul (38,3%)20 e da Paraíba (58%)12. Em relação à prevalência de diabetes (7,8%), esta se mostrou superior em um dos poucos estudos acerca da avaliação dessa doença (2,6%)13. Embora, no presente estudo, as prevalências dessas doenças crônicas tenham sido inferiores quando comparadas às de outros estados do país,
isso não reflete boas condições de saúde nas comunidades quilombolas13, tendo em vista as péssimas condições de vida em que se encontram os quilombolas da Bahia5,22.
Mesmo diante do potencial epidemiológico do presente estudo, na oferta de uma ferramenta de descrição das características das condições de vida e saúde das comunidades quilombolas do semiárido baiano, no contexto de populações nunca antes investigadas, esses achados devem ser analisados com prudência, haja vista a existência de limitações.
Do ponto de vista da epidemiologia, por se tratar de um estudo de delineamento transversal, torna-se difícil diferenciar se as exposições estudadas estão relacionadas a novos casos ou à duração dos mesmos. Ademais, como não houve intencionalidade dos autores, nesse primeiro momento, de buscar fatores associados ao padrão de adoecimento, mas, sim, de apresentar o perfil epidemiológico desse grupo populacional específico, de forma exploratória, em particular no que tange às variáveis que representam desigualdades sociais e distribuição das principais morbidades, com destaque para as diferenças entre as comunidades observadas, o estudo não apresentou robustez na análise desses achados.
Apesar dessas restrições, esse diagnóstico inicial permitiu, além de visibilizar essas comunidades, levantar hipóteses importantes para o desdobramento de novos estudos/análises com essas populações que se encontram vulnerabilizadas em sua condição de vida e saúde, no Brasil. Assim, em face da relevância do problema para a saúde pública, são necessárias mais investigações para identificação de possíveis fatores associados às patologias identificadas previamente neste estudo.
Os resultados encontrados no presente estudo apontam a condição de vulnerabilidade em que se encontram as comunidades de remanescentes de quilombos do município de Feira de Santana (BA), achados que são semelhantes, parcialmente, à realidade de outras populações quilombolas no país. Nesse sentido, discutiu-se que, mesmo considerando os avanços ocorridos após a implementação de políticas públicas, como o PBQ, muito ainda precisa ser feito para melhorar a condição de vida e de saúde dessas populações.
Ressalte-se que as condições que vulnerabilizam essas comunidades associam-se, principalmente, com os baixos níveis de escolaridade, assim como ao insuficiente acesso a bens materiais e recursos sociais. Dessa forma, todos esses fatos evidenciam a necessidade de mais pesquisas com essas populações, com vistas a identificar outras necessidades e melhor embasar políticas públicas e intervenções nas áreas sociais e de saúde.
Que os achados desta pesquisa possam contribuir para o avanço da saúde pública e estimular a realização de outros estudos mais robustos que objetivem analisar outros fatores envolvidos na determinação da condição de vida e saúde das populações quilombolas do Brasil.
1. Concepção do projeto, análise e interpretação dos dados: Roberta Lima Machado de Souza Araújo, Edna Maria de Araújo, Hilton Pereira da Silva, Carlos Antônio de Souza Teles Santos, Felipe Souza Nery e Betânia Lima Machado de Souza.
2. Redação do artigo e revisão crítica relevante do conteúdo intelectual: Roberta Lima Machado de Souza Araújo e Edna Maria de Araújo.
3. Revisão e/ou aprovação final da versão a ser publicada: Roberta Lima Machado de Souza Araújo, Edna Maria de Araújo, Hilton Pereira da Silva e Djanilson Barbosa dos Santos.
4. Ser responsável por todos os aspectos do trabalho na garantia da exatidão e integridade de qualquer parte da obra: Roberta Lima Machado de Souza Araújo e Edna Maria de Araújo.
1. Brasil. Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003, que regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos de que trata o art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil [Internet], Brasília (DF); 2003 nov 21 [citado em 2020 ago 31]. Seção 1, p. 4. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4887.htm
2. Brasil. Secretaria de Promoção de Igualdade Racial. Programa Brasil Quilombola: diagnóstico de ações realizadas [Internet]. Brasília (DF); 2012 [citado em 2020 ago 31]. Disponível em: https://www.mdh.gov.br/biblioteca/ igualdade-racial/diagnostico-de-acoes-realizadas-programa-brasil-A7ode-2012-1.pdf
3. Fundação Cultural Palmares. Quadro geral por estados de comunidade remanescentes de quilombo [Internet]. Brasília (DF); 2014 [citado em 2020 ago 31]. Disponível em: http://www.palmares.gov.br
4. Souza EB. Terra, território, quilombo: à luz do povoado de Matinha dos Pretos [dissertação]. Salvador (BA): Universidade Federal da Bahia; 2010.
5. Bezerra VM, Andrade ACS, César CC, Caiaffa WT. Comunidades quilombolas de Vitória da Conquista, Bahia, Brasil: hipertensão arterial e fatores associados. Cad Saúde Pública. 2013;29(9):1889-902.
6. Freitas DA, Caballero AD, Marques AS, Hernández CIV, Antunes SLNO. Saúde e comunidades quilombolas: uma revisão da literatura. Rev Cefac. 2011;13(5):937-43.
7. Silva JAN. Condições sanitárias e de saúde em Caiana dos Crioulos, uma comunidade quilombola do estado da Paraíba. Saúde Soc. 2007;16(2):111-24.
8. Araújo EM. Mortalidade por causas externas e raça/cor da pele: uma das expressões das desigualdades sociais [dissertação]. Salvador (BA): Universidade Federal da Bahia; 2007.
9. Brasil. Ministério da Saúde. Manual de doenças mais importantes, por razões étnicas, na população brasileira afro-descendente [Internet]. Brasília (DF); 2001 [citado em 2020 ago 31]. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/ bvs/publicacoes/cd06_09.pdf
10. Ludermir AB, Melo Filho DA. Condições de vida e estrutura ocupacional associadas a transtornos mentais comuns. Rev Saúde Pública. 2002;36(2):213-21.
11. Amaral RA, Malbergier, A. Avaliação de instrumento de detecção de problemas relacionados ao uso do álcool (Cage) entre trabalhadores da prefeitura do campus da Universidade de São Paulo (USP), campus capital. Rev Bras Psiquiatr. 2004;26(3):156-63.
12. Silva JAN. Condições sanitárias e de saúde em Caiana dos Crioulos, uma comunidade quilombola do estado da Paraíba. Saúde Soc. 2007;16(2):111-24.
13. Amorim MM, Tomazi L, Silva RAA, Gestinari RS, Figueiredo TB. Avaliação das condições habitacionais e de saúde da comunidade quilombola Boqueirão, Bahia, Brasil. Biosci J. 2013;29(4):1049-57.
14. Ferreira JN. Condições de saúde de população negra remanescente de quilombo em Alcântara, MA [dissertação]. Ribeirão Preto (SP): Universidade de São Paulo; 2015.
15. Williams DR. Race, Socioeconomic status, and health: the added effects of racism and discrimination. Annals N Y Acad Sci. 1999;896:173-88.
16. Cabral-Miranda G, Dattoli VCC, Dias-Lima A. Enteroparasitos e condições socioeconômicas e sanitárias em uma comunidade quilombola do semiárido baiano. Rev Patol Trop. 2010;39:48-55.
17. Santos RC, Silva MS. Condições de vida e itinerários terapêuticos de quilombolas de Goiás. Saúde Soc. 2014;23(3):1049-63.
18. Batista LE, Monteiro RB, Medeiros RA. Iniquidades raciais e saúde: o ciclo da política de saúde da população negra. Saúde Debate. 2013;37(99):681-90.
19. Cruz ICF. Saúde e iniquidades raciais no Brasil: o caso da população negra. Online Braz J Nurs. 2006;5(2):1-10.
20. Pauli S. Prevalência de hipertensão arterial e fatores associados em comunidades quilombolas do Rio Grande do Sul, Brasil [dissertação]. Porto Alegre (RS): Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 2016.
21. Melo MFT, Silva HP. Doenças crônicas e os determinantes sociais da saúde em comunidades quilombolas do Pará, Amazônia, Brasil. Rev ABPN. 2015;7(6):168-89.
22. Kochergin CN, Proietti FA, César CC. Comunidades quilombolas de Vitória da Conquista, Bahia, Brasil: autoavaliação de saúde e fatores associados. Cad Saúde Pública. 2014;30(7):1487-501.
23. Silva CBR, Ferreira CGS, Rodrigues FL. Saúde quilombola no Maranhão. Rev Ambivalências. 2016;4(7):106-33.
24. Medeiros DS, Moura CS, Guimarães MDC, Acurcio FA. Utilização de medicamentos pela população quilombola: inquérito no sudoeste da Bahia. Rev Saúde Pública. 2013;47(5):905-13.
25. Cardoso LGV, Melo APS, Cesar CC. Prevalência do consumo moderado e excessivo de álcool e fatores associados entre residentes de comunidades quilombolas de Vitória da Conquista, Bahia, Brasil. Ciênc Saúde Colet. 2015;20(3):809-20.
26. Barroso SM, Melo APS, Guimarães, MDC. Depression in former slave communities in Brazil: screening and associated factors. Rev Panam Salud Pública. 2014;35(4):256-63.
27. Macêdo TCN, Costa MCN, Gomes-Filho IS, Vianna MIP, Santos CT. Factors Related to Periodontal Disease in a Rural Population. Braz Oral Res. 2006;20(3):257-62.
28. Bruno IF, Rosa JAA, Melo CM, Oliveiras CCC. Avaliação da doença periodontal em adultos na população quilombola. Interfaces Cient Saúde Ambient. 2013;1(2):33-9.
29. Silva MEA, Rosa PCF, Neves ACC, Rode SM. Necessidade protética da população quilombola de Santo Antônio do Guaporé, Rondônia, Brasil. Braz Dent Sci. 2012;14(1-2):62-6.
30. Soares EF, Freire MCM, Araújo AC. Kalunga, GO: primeiro relato sobre experiência de cárie e comportamentos em saúde bucal. Rev Paul Odont. 2002;24(5):21-52.
Recebido: 20.3.2019. Aprovado: 22.7.2020.
Ludmylla de Souza Valverdea Adriana Miranda Pimentelb
Micheli Dantas Soaresc
Resumo
A formação em saúde é alvo de interesse nas pesquisas cujos resultados apontam para a necessidade de mudanças. O artigo apresenta um panorama atual da formação em nutrição por meio de uma revisão de literatura. A pesquisa foi realizada na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nas bases de dados LILACS e SciELO no período entre 2000 e 2015, através dos descritores “formação and nutricionistas”, “formação profissional and nutricionistas” e “formação em recursos humanos and nutricionistas”. Parte considerável dos 15 artigos reflete sobre as limitações na formação em nutrição, tais como: escasso diálogo com as ciências humanas; incipiente articulação entre teoria e prática; ênfase no biologicismo e tecnicismo. O material apresenta, também, propostas para a superação dos limites apontados. Com base nesses aspectos, estratégias estão sendo implementadas para enfrentar os principais problemas identificados atualmente na formação de recursos humanos em saúde.
Palavras-chave: Formação em nutrição. Ensino superior. Formação de recursos humanos. Nutricionistas.
a Nutricionista. Mestra em Estudos Interdisciplinares sobre a Universidade. Supervisora de estágios em Nutrição da Universidade Católica do Salvador. Salvador, Bahia, Brasil. E-mail: ludmyllavalverde@gmail.com
b Terapeuta Ocupacional. Doutora em Saúde Coletiva. Docente do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos da Universidade Federal da Bahia. Salvador, Bahia, Brasil. E-mail: adriana.pimentel@ufba.br
c Nutricionista. Doutora em Saúde Coletiva. Docente do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Santo Antônio de Jesus, Bahia, Brasil. E-mail: michelid@ufrb.edu.br
Endereço para correspondência: Rua Marieta Alves, n. 314, Itaigara. Salvador, Bahia, Brasil. CEP: 41815-260. E-mail: ludmyllavalverde@gmail.com
Abstract
The matter of training in the field of health has caught the interest of research, whose results show a need for reform. This paper presents an overview of training in the field of nutrition at a national level, through a literature review. The search was carried out in the Virtual Library of Health (BVS) in the databases LILACS and SciELO regarding the period 2000–2015 with use of the keywords “formação AND nutricionistas”, “formação profissional AND nutricionistas” and “formação AND recursos humanos and nutricionistas”. Most of the 15 papers reflect about the limitations of training in nutrition, such as the lack of dialogue with soft sciences, the incipient collaboration between theory and practice, and the emphasis on biologicism and technicalities. They also present proposals to overcome the aforementioned limitations. On this basis, strategies are being implemented to tackle the main problems that have been identified in the area of human resource training in healthcare.
Keywords: Training in nutrition. Higher education. Human resources training. Nutritionists.
FORMACIÓN EN NUTRICIÓN EN BRASIL: ANÁLISIS DE ALCANCES Y LÍMITES A PARTIR DE UNA REVISIÓN DE LA LITERATURA
Resumen
La formación en salud es objeto de interés en las investigaciones cuyos resultados apuntan a la necesidad de cambios. El artículo presenta un panorama actual de la formación en Nutrición por medio de una revisión de literatura. Se realizó una búsqueda en la Biblioteca Virtual en Salud (BVS), en las bases de datos LILACS y SciELO en el período entre 2000 y 2015, utilizando los descriptores “formación and nutricionistas”, “formación profesional and nutricionistas” y “formación en recursos humanos and nutricionistas”. Parte considerable de los 15 artículos refleja sobre las limitaciones en la formación en Nutrición, tales como: escaso diálogo con las ciencias humanas; incipiente articulación entre teoría y práctica; y énfasis en el biologicismo y el tecnicismo. El material presenta también propuestas para la superación de los límites apuntados. Con base en estos aspectos, se están implementando estrategias para enfrentar los principales problemas identificados actualmente en la formación de recursos humanos en salud.
Palabras clave: Formación en nutrición. Enseñanza superior. Formación de recursos humanos. Nutricionistas.
A formação em saúde vem sendo alvo de pesquisas no campo científico que consideram as lacunas no atendimento às necessidades de saúde da população e os problemas complexos que se apresentam no âmbito das práticas de saúde. Pereira e Lages1 afirmam que a formação universitária tem persistido num modelo tradicional de ensino, cuja estruturação curricular é baseada em disciplinas, no protagonismo do processo ensino-aprendizagem focado no(a) professor(a), no uso predominante de metodologias bancárias e numa formação especializada e fragmentada. Os principais problemas reconhecidos na literatura científica sobre o tema referem-se a uma formação tecnicista, focada na doença, hospitalocêntrica, especializada e de viés privatizante2.
Por meio de uma análise de matrizes curriculares, projetos pedagógicos e ementas dos cursos de saúde, Silveira3 constatou que ocorre predominância dos domínios psicomotor e cognitivo na formação. Para a autora, o domínio cognitivo relaciona-se ao desenvolvimento de capacidades e habilidades intelectuais, enquanto o psicomotor faz referência às habilidades manipulativas. Esse predomínio revela uma formação pouco reflexiva, que não valoriza conhecimentos das demais áreas. A autora afirma que o campo formativo da saúde resiste a incorporar em suas práticas conhecimentos e habilidades oriundos de áreas como a das ciências sociais, o que leva a aprendizados de procedimentos em que conhecimentos e usos dos determinantes sociais em saúde são pouco valorizados.
Ceccim e Feuerwerker4 vêm desenvolvendo trabalhos sobre a temática com o intuito de pautar a integralidade da atenção como elemento central na formação dos profissionais de saúde. Em que pesem as lacunas persistentes, Canesqui5:83 afirma que parece estar vivo o interesse pelo tema formação de recursos humanos em saúde, com o retorno das “[…] discussões sobre o currículo e a capacitação de profissionais para o Sistema Único de Saúde, tanto quanto as reavaliações sobre os vários níveis de ensino”. Os processos formativos precisam estar comprometidos com os dilemas da realidade brasileira, abordando aspectos éticos e políticos dos problemas.
Em face do reconhecimento da relevância dessa temática tanto no campo da formação como de seus desdobramentos nas práticas de saúde, a questão que orientou a realização deste estudo foi reconhecer quais os alcances e limites do processo formativo em nutrição com base numa revisão de literatura. Assim, este artigo tem o objetivo de apresentar um panorama sobre a atual formação em nutrição no contexto nacional a partir de uma revisão da literatura dos últimos 15 anos.
Trata-se de uma revisão da literatura sobre o tema formação em nutrição no Brasil. O trabalho foi elaborado a partir da análise dos artigos acessados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando as bases de dados de literatura científica LILACS (Literatura LatinoAmericana e do Caribe em Ciências da Saúde) e SciELO (Scientific Electronic Library Online).
A fase de coleta de dados ocorreu em agosto de 2015. Foi realizado um levantamento bibliográfico do período de 2000 a 2015, recorte temporal escolhido aleatoriamente. Os descritores foram selecionados com base na terminologia em saúde consultada nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS-BIREME). Por meio do operador booleano “and”, observou-se o seguinte esquema: “formação and nutricionistas”, “formação profissional and nutricionistas” e “formação em recursos humanos and nutricionistas”. É importante salientar a possibilidade de perda de estudos, em virtude do emprego de indexadores distintos ou da incongruência entre a formulação do título e o escopo do estudo/artigo.
Como resultado da pesquisa, foram identificados 216 trabalhos potenciais para o estudo. A seleção dos trabalhos obedeceu às seguintes etapas: (1) leitura dos títulos para a exclusão dos repetidos; (2) leitura dos resumos para identificação dos artigos cuja temática apresentou relação efetiva com o objeto de estudo. Nesse processo, também foram adotados os seguintes critérios de exclusão: publicações em forma de teses, dissertações e livros, artigos publicados fora do período de análise, artigos relacionados ao contexto internacional e que não abordaram diretamente o tema deste estudo, conforme expresso na Figura 1. Ao todo, foram excluídos 201 artigos; 15 trabalhos constituíram, portanto, o universo de artigos analisados neste estudo.
Na terceira etapa, os artigos foram lidos e organizados com base numa matriz que buscou analisar o conteúdo abordado sobre a formação em nutrição, considerando as seguintes categorias analíticas: (1) público-alvo, a partir do qual o estudo foi desenvolvido; (2) dimensão da formação em nutrição, que foi alvo de análise; e (3) conteúdo do conhecimento produzido nos artigos.
A análise dos artigos cotejados nesta revisão expressa o crescimento das publicações na área a partir do ano de 2009, demonstrando uma maior preocupação com a formação em saúde e uma reflexão mais ampla sobre esse tema nos últimos anos. De um modo geral, as discussões giraram em torno das matrizes curriculares dos cursos e, de forma predominante,
verteram sobre a área de nutrição social/saúde coletiva, que corresponde a uma subárea de conhecimento dos cursos e de atuação profissional.
Com referência à categoria “público-alvo”, percebeu-se uma distribuição igualitária dos artigos que realizaram estudos na perspectiva dos profissionais, dos docentes e dos representantes de cursos (coordenadores de colegiados). Por outro lado, chamaram atenção duas questões relacionadas a esta última categoria: a primeira delas diz respeito ao fato de que a maioria dos estudos utiliza apenas um sujeito do cenário formativo. A segunda é que apenas dois artigos forneceram informações oriundas dos estudantes, por meio do uso da perspectiva de mais de um sujeito6,7.
Importa ressaltar que cada sujeito agrega um valor singular a partir do lugar que ocupa ou ocupou na formação e da experiência promovida por essa formação. Assim, o profissional egresso pode realizar uma formulação analítica que confronta as competências requeridas no mundo do trabalho com aquelas forjadas no processo formativo; já os docentes e gestores agregam o valor dos desafios e limites institucionais evidenciados em sua experiência e atuação coletiva; de outra forma, os estudantes podem aportar informações sobre os desafios que se impõem ao ambiente acadêmico na perspectiva daqueles aos quais se destina a formação, tomando como base os sentidos atribuídos às competências, habilidades e atitudes. A escuta desses atores sociais, todavia, parece não ter assumido relevância no material analisado, como foi possível perceber pelo número reduzido de estudos que tomaram os estudantes como sujeitos avaliativos do processo formativo; por conseguinte, torna-se premente desvincular-se de análises normativas sobre a formação profissional e debruçar-se sobre um currículo vivo, articulando movimentos institucionais, interações e visões de todos os atores sociais que integram o cenário formativo.
No que diz respeito à categoria “dimensão da formação”, observou-se que os estudos se voltaram para três direções de análise: estrutura dos cursos a partir de suas bases normativas, prática e/ou formação pedagógica dos docentes e lugar que a saúde coletiva ocupa na formação em nutrição. Outros enfoques foram encontrados de forma mais dispersa.
O lugar que a saúde coletiva ocupa na formação em nutrição foi foco recorrente do material analisado. Neste grupo, estão os estudos que discutem a formação do nutricionista para atuação nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Nasf)8; a abordagem da formação de profissionais atuantes no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)9,10; a contribuição da Matriz de Ações de Alimentação e Nutrição na Atenção Básica de Saúde (Maanabs) para formação em nutrição11; a formação em saúde pública na graduação em nutrição12,7; a formação
em saúde coletiva do curso de uma universidade pública13; e, por fim, a relação entre teoria e prática de um componente curricular da área de saúde coletiva14.
No que se refere ao último quesito, é de se destacar que a graduação em nutrição, segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), possui três subáreas de conhecimento e de atuação: unidade de alimentação e nutrição (UAN), clínica e saúde coletiva. A análise da produção científica expressou certa centralidade assumida por estudos relativos à subárea da saúde coletiva na reflexão sobre a formação. Não foram encontrados artigos que abordassem as áreas de clínica ou de UAN, talvez porque os parâmetros adotados para busca nas bases de dados não tenham facilitado o acesso aos estudos sobre essas áreas.
De todo modo, as reflexões sobre a formação podem ser expressivas da necessidade de uma maior convergência entre a formação em saúde e os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), tal como sinalizado nas DCN. É provável que a saúde coletiva seja a área de formação que mais tem problematizado as demandas de reformulação ou inovação curricular por ser a mais alinhada ao SUS. Por outro lado, esse resultado faz supor a incipiente problematização da organização curricular vigente e o modus operandi pedagógico nas subáreas de conhecimento de clínica e de UAN.
A categoria “dimensão da formação” foi dividida em subcategorias em decorrência das especificidades de alguns recortes que merecem destaque. Na análise dos artigos, portanto, três subcategorias de análise dos temas foram centrais: (1) formação/prática docente; (2) formação tradicional; (3) proposições e experiências na reformulação curricular. No estudo de Luz et al.15, a formação do quadro docente é apresentada como uma questão central, com grandes reflexos na formação do nutricionista. Para esses autores, a maioria dos docentes dos cursos de nutrição não está devidamente capacitada para a docência por ter recebido uma formação voltada para o aprendizado de procedimentos e por ter tido pouco acesso a conhecimentos do campo da educação que os habilitassem como facilitadores do processo ensino-aprendizagem. Em virtude dessa característica das formações e do fato de os programas de pós-graduação stricto sensu focarem na formação de pesquisadores, com pouca ênfase na formação para a docência16, os docentes pautam suas práticas de ensino em experiências de seus antecessores17.
Costa e Ribeiro18 descrevem que os docentes participantes de sua pesquisa revelaram dificuldades para implantar metodologias ativas de ensino-aprendizagem, para avaliar competências e habilidades e, também, para integrar as atividades de ensino com as de pesquisa e extensão. Esses dados corroboram a análise de Mitre et al.19, para os quais, historicamente, a formação dos docentes da área da saúde está baseada em metodologias
tradicionais e conservadoras. A incipiente formação pedagógica dos docentes também constitui um desafio de outros cursos profissionalizantes do campo da saúde20. Destarte, um conjunto de fatores conflui na manutenção de uma prática pedagógica de base tradicional, isolada e hierárquica, questão esta que será detalhada mais adiante.
Vale ressaltar que oito dos artigos cotejados abordaram essas questões, que representam a temática mais recorrente desta revisão. Assim, a formação tradicional demonstrou ser uma problemática importante no campo da nutrição no país. A denominação formação tradicional engloba artigos que versaram sobre o tema empregando os seguintes termos: “ensino tradicional”, “pedagogia tradicional”, “lógica tradicional”. Embora os artigos não fornecessem uma clara definição de cada um desses termos, foi possível perceber que os autores se reportaram a características comuns à formação, tais como processo ensino-aprendizado centrado no professor, transmissão vertical do conteúdo, fragmentação e especialização do conhecimento e ênfase na aquisição de habilidades procedimentais. Essa conformação é reveladora das teorias pedagógicas não críticas21, cuja ênfase está no professor (tradicional) ou em técnicas e instrumentos (tecnicista).
Os estudos apontam características da formação do nutricionista, a saber: concepção de construção de conhecimento positivista, que compreende a organização dos processos de ensino “de forma linear, do teórico para o prático e do ciclo básico para o profissionalizante”7:640; atividades práticas restritas ao momento do estágio, com supervalorização da teoria frente à prática e ausência de reflexão da teoria no momento da prática14; salas de aula consideradas como espaço de aprendizagem central na formação22; conteúdos teóricos precedendo o contato com a prática, de forma desarticulada23. Os estudos revelam, todavia, que a introdução do estudante na prática per si não garante uma formação crítica e transformadora24.
Outras questões bastante debatidas nos artigos foram a ênfase no modelo pedagógico tradicional9,25; os processos de revisão curricular centrados no remanejamento de disciplinas no currículo8; a exígua inserção da integralidade no processo formativo; a necessidade de introdução de metodologias ativas de aprendizado junto à diversificação de cenários de práticas ao longo de todo processo de ensino-aprendizagem7; e a incipiente incorporação das políticas públicas de saúde, a exemplo de PNAE e Nasf, nos currículos9,12.
A análise de Aguiar e Costa8 converge com a dos autores supracitados quando revela que apenas 31,8% das nutricionistas que fizeram parte de sua pesquisa sentiam-se capacitadas para atuar com base em reflexões acerca da realidade econômica, política, social e cultural do país. As entrevistadas atribuíram as dificuldades apresentadas ao destaque dado para conteúdos técnicos durante a formação profissional em nutrição, consequência de uma tendência da
formação em privilegiar as áreas da nutrição clínica e da alimentação coletiva, mesmo havendo um crescimento da atuação no setor da saúde coletiva10. Outra questão apontada pelas autoras diz respeito à falta de integração entre os componentes profissionalizantes e os de ciências humanas, estes últimos majoritariamente ofertados por professores de outras áreas, oriundos de outros departamentos e que, muitas vezes, desconhecem o objetivo do curso e as atribuições dos profissionais de nutrição22
Evidencia-se a necessidade de se repensar a formação do nutricionista, principalmente no que se refere ao paradigma que fundamenta sua formação, atentando-se para o fato de que essas mudanças não serão feitas por alguns componentes da área de ciências humanas, e sim pela alteração da filosofia que norteia o curso. Sugere-se que os modelos de ensino das ciências sociais e da clínica, de forma isolada, não dão conta das necessidades da formação, “[…] uma vez que priorizam exclusivamente ou o polo reflexivo ou o prático e nossa práxis exige métodos prático-reflexivos em diferentes cenários formativos”26:1054. Esse parece ser um dos desafios necessários para a superação desse modelo vigente e para a implantação de uma formação mais humanizada, com nutricionistas e outros profissionais de saúde socialmente comprometidos, capazes de atender às reais demandas da população.
Para além do caráter marginal das ciências sociais na formação em saúde, cabe sublinhar que, mesmo com os temas introduzidos no currículo, não há garantia de mudanças nos princípios que norteiam os cursos, orientados pelo modelo da medicina científica. Nesse sentido, o modelo de formação tradicional parece estar aliado ao modelo da medicina científica, caracterizado “[…] pelo biologicismo e mecanicismo das práticas assistenciais, pela especialização do conhecimento, pela negação do saber popular e das práticas alternativas de cuidado, bem como pela ênfase na cura e na medicalização da sociedade”1:321.
Amparo-Santos et al.27 relatam parte da experiência do processo de implementação do Projeto Pedagógico do Curso de Nutrição da Universidade Federal da Bahia, apresentando propostas que contribuam para uma formação com vistas a atender às novas demandas sociais. As proposições foram redução dos pré-requisitos, aproveitamento das atividades extracurriculares, adoção de estratégias educacionais que posicionem os estudantes como protagonistas e enfatizem a construção do conhecimento, e realização do processo de avaliação de desempenho do estudante de forma individual, processual e contínua. Junqueira e Cotta11 avaliam a contribuição da Matriz de Ações de Alimentação e Nutrição na Atenção Básica de Saúde e concluem que esse instrumento pode constituir-se como elemento dinamizador de avanços na formação em nutrição no contexto da educação por competências, uma vez que
serve de referencial de ações, competências e habilidades, e favorece a formação de indivíduos mais capazes de lidar com as necessidades da população com base nos princípios do SUS.
Por outra via de discussão, Medeiros et al.28 aludem que o aumento da carga horária mínima nos cursos de nutrição não garante uma melhoria na formação. Faz-se necessária uma reflexão acerca do perfil profissional dos nutricionistas, levando em conta os papéis que esse profissional assume no mundo do trabalho e, principalmente, uma revisão dos modelos de currículos que prevalecem nos cursos; de forma mais ampla, urge também uma revisão dos programas de ensino superior brasileiro.
Com base na análise das categorias discutidas, é possível verificar que a maioria dos estudos reflete sobre as limitações presentes na formação em nutrição, tais como: escasso diálogo com as ciências humanas; incipiente articulação entre teoria e prática; ênfase no biologicismo e no tecnicismo. Um conjunto de artigos, por outro lado, apresenta propostas e caminhos pelos quais se objetiva a superação dos limites apontados.
Diante dos limites apresentados pelos estudos reunidos nesta pesquisa bibliográfica, foi possível perceber que os cursos de graduação em nutrição, de um modo geral, são presididos pelo modelo tradicional de formação, pautado numa racionalidade tecnicista e biologicista divorciada da realidade e dos contextos de prática, caracterizado pela dicotomia entre teoria e prática e pela incipiente formação sócio-histórica e política, centrado numa prática pedagógica docente tradicionalista. A partir das argumentações apresentadas, pode-se reconhecer também que essas limitações representam uma crise que se assenta tanto no campo da saúde como no da educação, e que conduz, por sua vez, a uma convergência das necessidades de mudanças em ambas as áreas29.
É importante ressaltar que alterações isoladas, como mudanças metodológicas ou oferta de componentes curriculares, conforme argumentação dos autores que compuseram o presente cotejamento analítico, parecem não ser capazes de produzir os efeitos desejados. Em que pese o reconhecimento de avanços nas DCN30 no âmbito das formações em saúde, as quais firmam o propósito de uma formação dirigida ao atendimento das necessidades sociais de saúde da população e de compromisso com o SUS, seu desdobramento em currículos inovadores foi pouco expressivo. Seguramente, há um conjunto de variáveis que incidem sobre a pouca reprodutibilidade das DCN na consecução de currículos concretos, condizentes com suas bases conceituais. É possível supor que as DCN favoreceram rearranjos curriculares mais focados na inserção de componentes curriculares com aporte de conteúdos requeridos em sua
base normativa, mas que não alteram estruturalmente o referencial da formação sustentado na profissionalização e, portanto, centrado no conhecimento técnico. Para Almeida Filho31, esse referencial conduz, na melhor das hipóteses, à formação de técnicos competentes, mas pouco engajados com as questões de saúde pública.
Por fim, os resultados deste estudo permitem supor que os desafios no campo da formação em nutrição se dirigem à constituição de projetos pedagógicos mais integrados entre os campos de saber que conformam à graduação em nutrição e em saúde de modo geral e, ainda, à reformulação das práticas de ensino-aprendizagem.
No cenário dos últimos dez anos, podem-se reconhecer estratégias para a superação desses desafios, dentre as quais se destacam: os programas governamentais que buscaram reforçar a articulação entre as instituições formadoras e os serviços de saúde, com vistas a corrigir o descompasso entre a orientação da formação dos profissionais de saúde e os princípios, diretrizes e necessidades do SUS, a exemplo do AprenderSUS, do Viver-SUS, do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) e do Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde)32; e a criação dos bacharelados interdisciplinares, como primeiro ciclo de formação, que têm sido considerados uma alternativa para a superação das fragilidades dos cursos profissionalizantes tradicionais33.
Para concluir, cumpre salientar que as fragilidades mencionadas nesses estudos convergem para características comuns, ainda que com algumas especificidades do campo da saúde. Destarte, parecem corresponder a desafios que atravessam a formação universitária de um modo geral, visto que remetem ao modo de organização curricular e à formação pedagógica dos docentes. Para além de propostas de superação isoladas, portanto, são necessárias reflexões mais abrangentes sobre a formação universitária vigente no contexto brasileiro.
1. Concepção do projeto, análise e interpretação dos dados: Ludmylla de Souza Valverde, Adriana Miranda Pimentel e Micheli Dantas Soares.
2. Redação do artigo e revisão crítica relevante do conteúdo intelectual: Ludmylla de Souza Valverde, Adriana Miranda Pimentel e Micheli Dantas Soares.
3. Revisão e/ou aprovação final da versão a ser publicada: Ludmylla de Souza Valverde, Adriana Miranda Pimentel e Micheli Dantas Soares.
4. Ser responsável por todos os aspectos do trabalho na garantia da exatidão e integridade de qualquer parte da obra: Ludmylla de Souza Valverde, Adriana Miranda Pimentel e Micheli Dantas Soares.
1. Pereira IDF, Lages I. Diretrizes curriculares para a formação de profissionais de saúde: competências ou práxis? Trab Educ Saúde. 2013;11(2):310-38.
2. Ceccim RB. Educação permanente em saúde: desafio ambicioso e necessário. Interface. 2005;9(16):161-77.
3. Silveira JLGC. A formação na área da saúde para além da profissionalização. In: Andrade MRS, Silva CRLD, Silva A, Finco M, organizadores. Formação em saúde: experiências e pesquisas nos cenários de prática, orientação teórica e pedagógica. Blumenau (SC): Edifurb; 2011. p. 75-85.
4. Ceccim RB, Feuerwerker LCM. Mudança na graduação das profissões de saúde sob o eixo da integralidade. Cad Saúde Pública. 2004;20(5):1400-10.
5. Canesqui AM. Ciências sociais e saúde no Brasil. 2a ed. São Paulo (SP): Hucitec; 2011.
6. Banduk MLLS, Ruiz-Moraes L, Batista NA. A construção da identidade profissional na graduação do nutricionista. Interface. 2009;13(28):111-20.
7. Pinheiro ARO, Recine E, Alencar B, Fagundes AA, Sousa JS, Monteiro RA, Toral N. Percepção de professores e estudantes em relação ao perfil de formação do nutricionista em saúde pública. Rev Nutr. 2012;25(5):631-43.
8. Aguiar CB, Costa NMSC. Formação e atuação de nutricionistas dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família. Rev Nutr. 2015;28(2):207-16.
9. Santana TCM, Ruiz-Moreno L. Formação do nutricionista atuante no Programa Nacional de Alimentação Escolar. Nutrire. 2012;37(2):183-98.
10. Honório ARF, Batista SH. Percepções e demandas de nutricionistas da alimentação escolar sobre sua formação. Trab Educ Saúde. 2015;13(2):473-92.
11. Junqueira TS, Cotta RMM. Matriz de ações de alimentação e nutrição na Atenção Básica de Saúde: referencial para a formação do nutricionista no contexto da educação por competências. Ciênc Saúde Colet. 2014;19(5):1459-74.
12. Recine E, Gomes RCF, Fagundes AA, Pinheiro ARO, Teixeira BA, Sousa JS, et al. A formação em saúde pública nos cursos de graduação de nutrição no Brasil. Rev Nutr. 2012;25(1):21-33.
13. Neves J, Sousa AA, Vasconcelos FAG. Formação em nutrição em saúde coletiva na Universidade Federal de Santa Catarina: reflexões sobre o processo de ensino para fortalecer o Sistema Único de Saúde. Rev Nutr. 2014;27(6):761-73.
14. Franco AC, Boog MCF. Relação teoria-prática no ensino de educação nutricional. Rev Nutr. 2007;20(6):643-55.
15. Luz MMA, Romero ABR, Brito AKS, Batista LPR, Nogueira LT, Santos MM, Martins MCC. A formação do profissional nutricionista na percepção do docente. Interface. 2015;19(54):589-601.
16. Batista NA. Desenvolvimento docente na área da saúde: uma análise. Trab Educ Saúde. 2005;3(2):283-94.
17. Costa NMSC. Formação pedagógica de professores de nutrição: uma omissão consentida? Rev Nutr. 2009;22(1):97-104.
18. Costa EQ, Ribeiro VMB. Análise de um processo de reforma curricular vivenciado por professores formadores de nutricionistas. Ciênc Educ. 2012;18(3):657-73.
19. Mitre SM, Siqueira-Batista R, Girardi-de-Mendonça JM, Morais-Pinto NM, Meirelles CAB, Pinto-Porto C, et al. Metodologias ativas de ensinoaprendizagem na formação profissional em saúde: debates atuais. Ciênc Saúde Colet. 2008;13(supl. 2):2133-44.
20. Baltazar MMM, Mysés SJ, Bastos CCBC. Profissão, docente de odontologia: o desafio da pós-graduação na formação de professores. Trab Educ Saúde. 2010;8(2):285-303.
21. Saviani D. A pedagogia histórico-crítica. Rev Binac Bras Argent. 2014;3(2):11-36.
22. Amorim STSP, Moreira H, Carraro TE. A formação de pediatras e nutricionistas: a dimensão humana. Rev Nutr. 2001;14(2):111-8.
23. Hora DL, Erthal RMC, Souza CTV, Hora EL. Propostas inovadoras na formação do profissional para o Sistema Único de Saúde. Trab Educ Saúde. 2013;11(3):471-86.
24. Silva JPV, Tavares CMM. Integralidade: dispositivo para a formação crítica de profissionais de saúde. Trab Educ Saúde. 2004;2(2):271-85.
25. Conterno SFR, Lopes RE. Inovações do século passado: origens dos referenciais pedagógicos na formação profissional em saúde. Trab Educ Saúde. 2013;11(3):503-23.
26. Barros NF. O ensino das ciências sociais em saúde: entre o aplicado e o teórico. Ciênc Saúde Colet. 2014;19(4):1053-64.
27. Amparo-Santos LS, Silva MCM, Santos JM, Assunção MP, Portela ML, Soares MD, et al. Projeto pedagógico do programa de graduação em nutrição da Escola de Nutrição da Universidade Federal da Bahia: uma proposta em construção. Rev Nutr. 2005;18(1):105-17.
28. Medeiros MAT, Amparo-Santos L, Domene SMA. A formação de nutricionistas no Brasil: notas para o debate sobre carga horária mínima para integralização curricular dos cursos de graduação. Rev Nutr. 2013;26(5):583-93.
29. Demétrio F, Alves VS, Brito SM. Bacharelado interdisciplinar em saúde: a concepção positiva de saúde como referencial teórico (RE) orientador do modelo de formação. In: Santana LAA, Oliveira RP, Meireles E, editores. Bacharelado Interdisciplinar em Saúde da UFRB: inovações curriculares, formação interprofissional integrada e em ciclos. Cruz das Almas (BA): EDUFRB; 2016. p. 57-76.
30. Brasil. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE/CES nº 5, de 7 de novembro de 2001. Institui diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em nutrição. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília (DF); 2001 nov 9. Seção 1, p. 39.
31. Almeida Filho NM. Prefácio. In: Teixeira CFS, Coelho MT, organizadores. Uma experiência inovadora no ensino superior: bacharelado interdisciplinar em saúde. Salvador (BA): Edufba; 2014.
32. Brasil. Ministério da Saúde. Ministério da Educação. Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde – Pró-Saúde: objetivos, implementação e desenvolvimento potencial. Brasília (DF); 2007. Disponível em: https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/3028.pdf
33. Lima M, Coutinho D, Freitas J, Dahia I, Amazonas O, Alencar H. Bacharelados interdisciplinares da Universidade Federal da Bahia: considerações sobre a implantação do projeto. Athenea Digital. 2015;15(3):127-47.
Recebido: 18.5.2019. Aprovado: 31.7.2020.
LIMITES E DESAFIOS PARA UM CUIDADO INTEGRAL
Maria Augusta Vasconcelos Palácioa
Iukary Takenamib
Laís Barreto de Brito Gonçalvesc
Resumo
A hanseníase representa um preocupante problema de saúde pública no Brasil, com altas taxas endêmicas e grande impacto na vida do indivíduo e sua família. Um importante instrumento para alcançar o seu controle efetivo é o amplo conhecimento sobre a doença. No entanto, existem lacunas na formação dos profissionais de saúde quanto à sua abordagem no processo de ensino-aprendizagem, o que influencia na prática profissional. A integralidade no cuidado às pessoas com hanseníase precisa orientar o processo de formação dos profissionais de saúde. Objetiva-se apresentar reflexões sobre o ensino da hanseníase em cursos de Graduação em saúde, apontando limites e desafios para um cuidado integral. Trata-se de uma revisão narrativa da literatura que pretende conhecer o estado da arte sobre o ensino da hanseníase na Graduação em saúde. O ensino sobre a hanseníase e sua integração nos currículos dos cursos da área da saúde ainda não contempla uma perspectiva integral para a abordagem do tema. Existe um distanciamento entre teoria e prática, um enfoque centrado nos aspectos clínicos e um grau elevado de desinformação sobre diagnóstico, tratamento, cura e aspectos sociais que envolvem o processo de adoecimento e tratamento. A hanseníase precisa ser abordada de forma integral nos cursos da área da saúde desde os primeiros semestres. Dessa forma, deve-se considerar um olhar ampliado para aspectos sociais e culturais que envolvem o processo de adoecimento e tratamento, tanto a nível individual quanto familiar.
Palavras-chave: Hanseníase. Ensino superior. Educação em saúde.
a Enfermeira. Doutora em Educação em Ciências e Saúde. Docente do curso de Medicina da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Paulo Afonso, Bahia, Brasil. E-mail: augusta.palacio@univasf.edu.br
b Biomédica. Doutora em Biotecnologia em Saúde e Medicina Investigativa. Docente do curso de Medicina da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Paulo Afonso, Bahia, Brasil. E-mail: iukary.takenami@univasf.edu.br
c Enfermeira. Mestranda em Enfermagem pela Universidade Regional do Cariri. Crato, Ceará, Brasil. E-mail: laisynha1@hotmail.com Endereço para correspondência: Universidade Federal do Vale do São Francisco. Rua da Alvorada, s/n, General Dutra. Paulo Afonso, Bahia, Brasil. CEP: 48607-190. E-mail: augusta.palacio@univasf.edu.br
Abstract
Leprosy represents a public health issue in Brazil, having high endemic rates and great impact on the life of the individual and his family. An important tool for achieving effective control is extensive knowledge about the disease. However, there are gaps in health professional training regarding their approach in the teaching-learning process, which influences professional practice. Integral care for people with leprosy needs to guide the training process of health professionals. This study presents reflections on the teaching of leprosy in undergraduate courses in Health, indicating the limits and challenges for integral care, verifying the state of the art on the teaching of leprosy in undergraduate health by means of literature review. Teaching about leprosy and its integration in curricula of the courses of the health area has not yet reached an integral perspective to the approach of the subject. There is still a gap between theory and practice, a focus on clinical aspects, and a high degree of misinformation about diagnosis, treatment, cure, and social aspects that involve the process of illness and treatment. Leprosy needs to be addressed in a comprehensive manner in courses of the health field since the first semesters. Thus, an expanded view must be considered for social and cultural aspects that involve the process of illness and treatment, both individually and in the family.
Keywords: Leprosy. Higher education. Health education.
LA ENSEÑANZA SOBRE LEPRA EN LOS CURSOS DE PREGRADO EN SALUD:
LOS LÍMITES Y LOS DESAFÍOS PARA UN CUIDADO INTEGRAL
La lepra es un gran problema de salud pública en Brasil, con altos índices endémicos y gran impacto en la vida del individuo y su familia. Para alcanzar su control efectivo, un importante instrumento es el amplio conocimiento sobre la enfermedad. Sin embargo, existen deficiencias en la formación de los profesionales de la salud con relación a su enfoque en el proceso de enseñanzaaprendizaje, lo que influye en la práctica profesional. La integralidad del cuidado a las personas con lepra necesita orientar el proceso de formación de los profesionales de la salud. Se pretende presentar reflexiones sobre la enseñanza de la lepra en cursos de graduación en salud, apuntando límites y desafíos para un cuidado integral. Esta es una revisión narrativa de la literatura que tiene
como objetivo conocer el estado del arte en la enseñanza de la lepra en los cursos de graduación. La enseñanza sobre la lepra y su integración en los planes de estudios de los cursos del área aún no ha alcanzado una perspectiva integral para el abordaje del tema. Hay un distanciamiento entre teoría y práctica, enfocándose en los aspectos clínicos y un alto grado de desinformación sobre el diagnóstico, tratamiento, cura y aspectos sociales que comprende el proceso de enfermedad y tratamiento. La lepra necesita ser abordada de forma integral en los cursos del área de la salud desde los primeros semestres. De esta forma, se debe ampliar la mirada hacia los aspectos sociales y culturales que comprende el proceso de enfermedad y tratamiento, tanto a nivel individual como familiar.
Palabras clave: Lepra. Educación superior. Educación en salud.
A hanseníase representa um preocupante problema de saúde pública no Brasil, com altas taxas endêmicas e grande impacto na vida do indivíduo e sua família. É um problema que requer um olhar sensível dos formuladores de políticas públicas, dos profissionais de saúde e da comunidade, para alcançar, em longo prazo, o que a Estratégia Global para Hanseníase 2016-2020 defende: “um mundo sem hanseníase”1:7. Para tanto, o que deve ser buscado de imediato é a detecção precoce dos casos de hanseníase e o tratamento oportuno para evitar incapacidades e reduzir a transmissão da infecção na comunidade1. Contudo, o alcance dessas metas requer um trabalho intersetorial, multidisciplinar, que envolva os serviços de saúde na elaboração de estratégias de enfrentamento e as universidades no aperfeiçoamento contínuo do processo de ensino-aprendizagem sobre a doença2.
Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS)1 revelam que Índia, Brasil e Indonésia, três países com grandes populações, notificam mais de 10 mil novos casos anualmente, representando 81% dos pacientes recém-diagnosticados e notificados no mundo. No Brasil, no ano de 2016, foram notificados 25.218 casos novos, uma taxa de detecção de 12,2/100 mil habitantes. Com esse quadro epidemiológico, o Brasil ocupa o segundo lugar em número de casos novos registrados no mundo3.
A hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa, de grande magnitude pelo seu alto potencial de produção de deformidades e de incapacidades físicas2. O agente etiológico é o Mycobacterium leprae, que infecta os nervos periféricos e, mais especificamente, as células de Schwann. A transmissão da doença ocorre pelas vias respiratórias, por meio do
contato próximo e prolongado de um hospedeiro suscetível com um paciente bacilífero que não está em tratamento. Por isso, uma das principais medidas epidemiológicas é o exame dos contatos intradomiciliares. Cabe destacar que, se a doença não for tratada na sua forma inicial, ela quase sempre evolui e se torna transmissível4
A principal característica clínica da hanseníase é o aparecimento de uma lesão na pele (manchas, placas, infiltrados e/ou nódulos cutâneos), com diminuição ou perda da sensibilidade. O diagnóstico da hanseníase é predominantemente clínico e envolve uma avaliação dermatoneurológica, a partir de teste de sensibilidade, na região em que se localizam as lesões, e investigação neurológica, com palpação de nervos e teste da força muscular5 Aos pacientes diagnosticados com hanseníase é oferecido tratamento gratuito pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a poliquimioterapia (PQT-OMS). Assim, o tratamento interrompe a cadeia de transmissão em poucos dias e garante a cura da doença4.
O estigma e a discriminação são questões muito presentes na vida do indivíduo com hanseníase, e se configuram também como fatores que interferem no diagnóstico, na continuidade do tratamento, nos contextos familiares e sociais e na própria relação com o serviço de saúde e os profissionais que nele atuam.
Historicamente, a hanseníase carrega o peso da exclusão social, pois durante muitos anos, ter essa doença era uma espécie de condenação, e as únicas soluções eram a internação e o isolamento compulsório6. Com uma política pública altamente autoritária, implementada no Brasil a partir de 1930, na qual o objetivo era a internação compulsória de doentes acometidos pela hanseníase, as pessoas que recebiam este diagnóstico passavam por um duplo sofrimento, e muitos perderam suas famílias, seu emprego e sua identidade no contexto em que viviam7.
Atualmente, existem alguns indicadores sobre a presença da hanseníase e sua capacidade de transmissão na comunidade, alertando para uma falência nas estratégias de busca ativa e diagnóstico precoce. O primeiro deles é o aumento do número de pacientes pediátricos, o que sinaliza uma infecção ativa, que não está sendo tratada no contexto familiar e social. O outro é o diagnóstico tardio, quando o paciente já apresenta incapacidades/deformidades1 Esses fatores têm chamado atenção, pois embora existam estratégias nacionais e mundiais de combate à doença e ao impacto que ela gera na vida do indivíduo, na prática, a sua efetivação ainda é um desafio.
A hanseníase faz parte do grupo das doenças consideradas negligenciadas, aquelas que além de prevalecerem em condições de pobreza, também contribuem para o quadro de desigualdade, uma vez que representam entraves ao desenvolvimento dos países8.
Conforme alertam Dias, Cyrino e Lastória9, negligenciadas também têm sido sua importância e sua valorização na formação das profissões da saúde, mesmo nos países endêmicos, como é o caso do Brasil. Corroborando essa afirmativa, compreende-se que o baixo nível de conhecimento sobre a doença entre alunos e profissionais das áreas da saúde é um fator que tem dificultado o controle da hanseníase10
O cuidado à pessoa com hanseníase deve considerar a integralidade como eixo condutor das práticas de saúde, desde a possibilidade de garantir o acesso a todos os níveis do sistema de saúde, a integração de ações preventivas, curativas e de promoção da saúde, a compreensão do sujeito e não apenas da doença instalada. A garantia de um cuidado integral contribui para uma ruptura dos valores tradicionais da saúde, a fragmentação da atenção e do cuidado às pessoas11. Nessa perspectiva, durante a formação dos profissionais de saúde, esses conceitos e suas implicações na prática devem ser trabalhados de forma transversal a todos os componentes curriculares, pois somente a partir de mudanças no ensino é possível reorientar práticas que ainda permanecem arraigadas ao modelo hegemônico da saúde.
O objetivo deste trabalho é apresentar algumas reflexões sobre o ensino de hanseníase em cursos de Graduação em saúde, apontando alguns limites e desafios para um cuidado integral. A proposta é contribuir com a discussão sobre a temática, uma vez que se observam lacunas nesse processo de ensino-aprendizagem durante a formação dos profissionais de saúde.
Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, uma vez que pretende conhecer o que se tem discutido sobre o ensino da hanseníase na Graduação em saúde. Esse tipo de revisão tem como finalidade mapear estudos sobre uma determinada temática, sendo apropriados para “descrever e discutir o desenvolvimento ou o ‘estado da arte’ de um determinado assunto, sob ponto de vista teórico ou contextual”12:1. Para tanto, não segue protocolos sistemáticos de busca na literatura e não tem a finalidade de esgotar as fontes de informações, podendo acessar livros, artigos científicos ou outros documentos, que permitem uma análise crítica do autor12,13
A pesquisa foi realizada a partir de buscas na Biblioteca Virtual de Saúde, no Google Acadêmico (Google Scholar) e em materiais oficiais do Ministério de Saúde do Brasil, nos meses de dezembro de 2018 a janeiro de 2019. A escolha por essas bases de dados devese à capacidade de rastrear informações técnicas-científicas, contemplando não só periódicos, bem como outros materiais de embasamento científico, e por se tratar de um levantamento inicial sobre a temática para conhecer as discussões em torno do ensino sobre hanseníase na
Graduação em saúde. Dessa forma, o estudo tinha o objetivo de conhecer esse panorama, mas não a finalidade de estogar as bases de dados em um primeiro momento. Nas bases de dados, os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) utilizados foram “hanseníase” e “educação em saúde” e “ensino superior”, sem restrição de período, escritos em inglês ou português, com o objetivo de ampliar a busca e identificar se essas discussões estão presentes no campo da formação em saúde. Foram excluídos artigos indisponíveis na íntegra ou que não abordassem a temática proposta. Após seleção dos artigos e documentos, seguiu-se a análise com base na experiência apresentada sobre a abordagem da hanseníase no ensino da saúde, em diferentes áreas de formação. A prática docente tem revelado lacunas nessa abordagem e esse levantamento inicial do estado da arte teve como finalidade entender quais questões estão sendo discutidas sobre essa temática.
A produção científica sobre o ensino da hanseníase nos cursos de Graduação em saúde ainda se mostra incipiente na literatura nacional. Alguns estudos pontuais também têm demonstrado esse mesmo cenário, em épocas diferentes. Dias, Cyrino e Lastória9 referem uma ausência de pesquisas no Brasil que abordem conteúdos e metodologias de ensino sobre a hanseníase para as profissões da saúde. Para Viana, Araújo e Pires2, há uma escassez de estudos científicos que discutam a avaliação de conhecimentos, atitudes ou necessidades sobre hanseníase na formação dos acadêmicos da área da saúde, ou mesmo que compartilhem experiências do processo de ensino-aprendizagem em universidades brasileiras.
Dessa forma, as discussões tecidas neste trabalho estão embasadas na vivência acadêmica e em pesquisas sobre a temática, que contribuem para elaborar algumas reflexões sobre o ensino da hanseníase na formação de profissionais de saúde. Os achados na literatura têm corroborado com as experiências docentes, nas quais ainda prevalece uma concepção pedagógica pautada na dicotomia entre teoria e prática 2,9,10,14-17
Dias, Cyrino e Lastória9 investigaram os conhecimentos de estudantes de fisioterapia sobre hanseníase antes de terem um contato formal com a temática na Graduação. Os participantes do estudo foram 51 estudantes que estavam, em 2004, cursando o quarto ano do curso. Os resultados relevaram que existia um conhecimento superficial dos estudantes, demonstrado por uma confusão de conceitos em relação à doença, à transmissão e à atuação do fisioterapeuta no cuidado às pessoas com hanseníase.
Lopes15 também avaliou o nível de conhecimento sobre hanseníase entre estudantes de fisioterapia em uma instituição de ensino superior. Aplicou-se um questionário a quarenta estudantes matriculados do sexto ao décimo semestre, durante o período de agosto de 2011 a junho de 2012. Destes, vinte haviam cursado Patologia Humana e Recursos Terapêuticos (Grupo I) e os demais eram estudantes de estágio da Clínica Escola da Universidade que tinham cursado Clínica I, Clínica II e Estágio I (Grupo II). A análise dos dados demonstrou que o Grupo II comparado ao Grupo I teve maior número de acertos. Esse resultado sinaliza um crescimento em termos de conhecimentos gerais da doença e seu tratamento no processo de ensino-aprendizagem ao longo do curso. No entanto, os autores observaram que apesar do Grupo I ter cursado as disciplinas de Patologia e Recursos Terapêuticos, apresentaram um conhecimento menor quando comparado ao Grupo II15
Em outra pesquisa, realizada por Viana, Araújo e Pires2, foi avaliado o conhecimento sobre hanseníase entre estudantes do último ano do curso de medicina de universidades públicas de Belém (PA), área endêmica para a doença. Participaram do estudo 122 acadêmicos, no período de agosto de 2011 a fevereiro de 2012. Os pesquisadores utilizaram um questionário para avaliar o nível de conhecimento dos estudantes sobre a hanseníase, que continha questões sobre prevenção, diagnóstico e tratamento da doença. Os resultados indicaram um nível de conhecimento relativamente baixo, com reduzidos índices de acertos sobre contato intradomiciliar, diagnóstico e formas clínicas da doença.
Ainda sobre o ensino médico, Alves et al.16 avaliaram o ensino da hanseníase entre 632 estudantes do primeiro e último ano, em uma escola médica pública localizada em uma região com baixa prevalência de hanseníase. Fez-se uma análise comparativa entre dois grupos: Grupo I (calouros, primeiro ano) e Grupo II (internos, último ano). Os resultados relevaram que, apesar do Grupo II ter adquirido mais conhecimento durante o curso, ainda observaram-se conceitos incorretos relacionados a transmissão, diagnóstico e cura da doença, indicando que o tema foi trabalhado de forma superficial. Para os autores, aqueles acadêmicos que participaram de atividades no centro de referência para hanseníase apresentavam-se mais confiantes para atender uma pessoa com diagnóstico de hanseníase.
Rodrigues et al.10 analisaram os conhecimentos de estudantes de medicina sobre hanseníase, a partir de um questionário sobre formas de contágio, necessidade de isolamento, características clínicas e sequelas. Participaram do estudo 164 estudantes do primeiro ao quarto ano de medicina, no período de abril a junho de 2013. Embora 98% dos acadêmicos tenham
algum conhecimento sobre a hanseníase, ainda persiste uma desinformação em relação a formas de transmissão, diagnóstico precoce e tratamento da doença, pois muitos ainda acreditam ser necessário o isolamento do paciente10.
Chaves et al.17, a partir de um estudo documental, avaliaram a abordagem do ensino da hanseníase em seis cursos de Graduação de enfermagem no estado da Paraíba. Os autores utilizaram os planos de ensino dos cursos, em instituições públicas e privadas. Os resultados revelam que há divergências no ensino da hanseníase nos cursos analisados, pois uma parte deles orienta o ensino a partir do modelo de vigilância à saúde, e os outros estão mais direcionados ao modelo biomédico, com foco na doença. Além disso, os autores destacam que nenhum plano de ensino aborda os aspectos sociais da hanseníase, e os conteúdos sobre o cuidado à pessoa com a doença são trabalhados de forma sucinta.
Em pesquisa realizada há mais de duas décadas por Pedrazzani14 também se observou uma heterogeneidade sobre o ensino da hanseníase em cursos de Graduação em enfermagem no estado de São Paulo. A carga horária utilizada, os locais de atividades práticas e o conteúdo das informações específicas sobre a hanseníase variavam entre as escolas pesquisadas. Em alguns cursos, o ensino sobre hanseníase foi ofertado em apenas uma ou duas disciplinas, revelando uma abordagem mais pontual e menos integral durante toda a formação.
Esses estudos revelam que o ensino sobre a hanseníase e sua integração nos currículos dos cursos da área da saúde ainda não contemplam uma perspectiva integral para a abordagem do tema, tanto do ponto de vista dos conteúdos trabalhados quanto pela disposição em diferentes momentos do processo de ensino-aprendizagem. Ainda se observa uma dicotomia entre teoria e prática, um enfoque centrado nos aspectos clínicos e um grau elevado de desinformação sobre diagnóstico, tratamento, cura e aspectos sociais que envolvem o processo de adoecimento e tratamento.
A prática tem mostrado que os profissionais de saúde ainda saem da universidade com dificuldades para ofertar um cuidado integral à pessoa com hanseníase, principalmente no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS), em que deveria ocorrer a busca ativa, a identificação dos casos, o diagnóstico e o tratamento. Em muitas situações, os pacientes são diagnosticados e tratados tardiamente, em Centros de Referência Especializados. Esse cenário pode ser reflexo de uma formação em saúde que não privilegia a integralidade do cuidado ou a prestação de serviços no SUS, na qual os profissionais não são formados para atender às reais necessidades de saúde da população, principalmente, na rede de serviços básicos9
Nessa perspectiva, deve-se investir em estratégias de melhoria do processo de ensino-aprendizagem em hanseníase nas diferentes profissões da saúde. O desafio é promover uma formação que privilegie não apenas os aspectos relacionados à doença, mas uma aprendizagem baseada em: práticas com enfoque problematizador da realidade local2; uma formação voltada para o SUS e para a APS; valorização do trabalho interdisciplinar; educação em saúde como uma prática transversal; e inserção do discente em diferentes campos de prática.
As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os cursos da área da saúde orientam uma formação integral, humana, crítica e reflexiva, na qual os profissionais formados estejam aptos para atuar no SUS, nos diferentes níveis de atenção à saúde, a partir do conhecimento do perfil epidemiológico, dos riscos e vulnerabilidades das pessoas e grupos sociais. Nesse sentido, a hanseníase, enquanto problema de saúde pública no Brasil, precisa ser discutida de forma integral nos cursos de Graduação em saúde desde os primeiros semestres, a partir de um olhar ampliado para aspectos sociais e culturais que envolvem o processo de adoecimento e tratamento, tanto a nível individual quanto familiar.
Este artigo considera a necessidade de ampliar a discussão acerca do ensino sobre hanseníase nos cursos de Graduação em saúde, a fim de contribuir com o campo da educação em saúde e do cuidado em saúde, na perspectiva da integralidade. Para tanto, deve-se investir em mais estudos sobre a temática e em estratégias que possam contribuir para o processo de ensino-aprendizagem sobre a hanseníase na formação em saúde.
1. Concepção do projeto, análise e interpretação dos dados: Maria Augusta
Vasconcelos Palácio e Iukary Takenami.
2. Redação do artigo e revisão crítica relevante do conteúdo intelectual: Maria
Augusta Vasconcelos Palácio, Iukary Takenami e Laís Barreto de Brito Gonçalves.
3. Revisão e/ou aprovação final da versão a ser publicada: Maria Augusta
Vasconcelos Palácio, Iukary Takenami e Laís Barreto de Brito Gonçalves.
4. Ser responsável por todos os aspectos do trabalho na garantia da exatidão e integridade de qualquer parte da obra: Maria Augusta Vasconcelos Palácio, Iukary Takenami e Laís Barreto de Brito Gonçalves.
1. Organização Mundial da Saúde. Estratégia global para hanseníase 20162020: aceleração rumo a um mundo sem hanseníase. Genève; 2016.
2. Viana ACB, Araújo FC, Pires CAA. Conhecimento de estudantes de medicina sobre hanseníase em uma região endêmica do Brasil. Rev Baiana Saúde Pública. 2016;40(1):24-37.
3. Brasil. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. Boletim epidemiológico: caracterização da situação epidemiológica da hanseníase e diferenças por sexo, Brasil, 2012-2016. Brasília (DF); 2018.
4. Brasil. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. Guia prático sobre a hanseníase. Brasília (DF); 2017.
5. Silva FBV, Couto HRM, Hitchon MES, Ribeiro MOA, Murta TGH. Ações de enfermagem na abordagem ao adulto: possibilidades na saúde coletiva. In: Souza MCMR, Horta NC. Enfermagem em saúde coletiva: teoria e prática. 2a ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2017. p. 313-33.
6. Silveira IR, Silva PR. As representações sociais do portador de hanseníase sobre a doença. Saúde Colet. 2006;3(12):112-7.
7. Borenstein MS, Padilha MI, Costa E, Gregório VRP, Koerich AE, Ribas DL. Hanseníase: estigma e preconceito vivenciados por pacientes institucionalizados em Santa Catarina (1940-1960). Rev Bras Enferm. 2008;61(n. spe):708-12.
8. Brasil. Ministério de Saúde. Doenças negligenciadas: estratégias do Ministério da Saúde. Rev Saúde Pública. 2010;44(1):200-2.
9. Dias A, Cyrino EG, Lastória JC. Conhecimentos e necessidades de aprendizagem de estudantes de fisioterapia sobre a Hanseníase. Hansen Int. 2007;32(1):9-18.
10. Rodrigues CC, Berto J, Nassif PW, Nassif AE. Análise dos conhecimentos a respeito da hanseníase em acadêmicos de medicina. Braz J Surg Clin Res. 2013;4(1):23-7.
11. Viegas SMF, Penna CMM. As dimensões da integralidade no cuidado em saúde no cotidiano da Estratégia Saúde da Família no Vale do Jequitinhonha, MG, Brasil. Interface. 2015;19(55):1089-100.
12. Rother ET. Revisão sistemática × revisão narrativa. Acta Paul Enferm. 2007;20(2):v-vi.
13. Universidade Estadual Paulista. Faculdade de Ciências Agronômicas, Biblioteca Prof. Paulo de Carvalho Mattos. Tipos de revisão de literatura. Botucatu (SP); 2015.
14. Pedrazzani ES. Caracterização do ensino sobre hanseníase nos cursos de graduação em enfermagem no estado de São Paulo. Hansen Int. 1987;12(1):12-8.
15. Lopes JP. Conhecimento de alunos sobre hanseníase. Saúde Rev. 2016;16(42):1-10.
16. Alves CRP, Araújo MG, Ribeiro MMF, Melo EM. Evaluation of teaching on leprosy by students at a brazilian public medical school. Rev Bras Educ Med. 2016;40(3):393-400.
17. Chaves AEP, Medeiros SM, Chaves BH, Fernandes TN, Dantas CV. Abordagem da hanseníase na graduação em enfermagem. Congresso Brasileiro de Ciências da Saúde; 2018. Campina Grande. Campina Grande (PB): Combracis; 2018. p. 1-11.
Recebido: 4.2.2019. Aprovado: 13.7.2020.
Mússio Pirajá Mattosa
Daiene Rosa Gomesb
Maiara Macêdo Silvac
Samara Nagla Chaves Trindaded
Elizabete Regina Araújo de Oliveirae
Raquel Baroni de Carvalhof
Resumo
A educação interprofissional (EIP) em saúde é uma atividade que envolve dois ou mais profissionais que aprendem juntos de modo interativo para melhorar a colaboração e qualidade da atenção à saúde. Assim, este estudo tem o objetivo de compartilhar a vivência do uso de metodologias ativas de ensino-aprendizagem na prática interprofissional colaborativa com educadores da saúde coletiva. Trata-se de um relato de experiência da oficina “Dialogando com a interprofissionalidade”. A prática do “acolhimento” foi a abordagem escolhida para iniciar o diálogo da interprofissionalidade, com a finalidade de construir uma rede de confiança e solidariedade. No “(re)conhecimento interprofissional”, os participantes refletiram sobre as novas possibilidades para a produção do cuidado compartilhado. A formação dos grupos foi pautada na interação dialógica, através do “colar diversidade”, que possibilitou a construção de um ambiente descontraído e participativo. Com a “viagem educacional” foram gerados sen-
a Doutorando em Saúde Coletiva pela Universidade Federal do Espírito Santo. Docente do Centro das Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Barreiras, Bahia, Brasil. E-mail: mussio.mattos@ufob.edu.br
b Doutoranda em Saúde Coletiva pela Universidade Federal do Espírito Santo. Docente do Centro das Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Barreiras, Bahia, Brasil. E-mail: daiene.gomes@ufob.edu.br
c Doutoranda em Saúde Coletiva pela Universidade Federal do Espírito Santo. Docente do Centro das Ciências Exatas e Tecnológicas da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Barreiras, Bahia, Brasil. E-mail: maiaramacedo@ufob.edu.br
d Doutoranda em Saúde Coletiva pela Universidade Federal do Espírito Santo. Barreiras, Bahia, Brasil. E-mail: samara.trindade@ufob.edu.br
e Docente do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Espírito Santo. Vitória, Espírito Santo, Brasil. E-mail: elizabete_regina@hotmail.com
f Docente do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Espírito Santo. Vitória, Espírito Santo, Brasil. E-mail: raquel_baroni@yahoo.com.br
Endereço para correspondência: Rua Professor José Seabra de Lemos, n. 316, Prainha, gabinete 15, Recanto dos Pássaros. Barreiras, Bahia, Brasil. CEP: 47808-019. E-mail: mussio.mattos@ufob.edu.br
timentos e racionalidades que contribuíram para o desenvolvimento da colaboração, respeito mútuo, confiança e reconhecimento das diversas profissões, com interdependência e complementaridade dos saberes e ações, para o cuidado integral. Na “ciranda da interprofissionalidade” houve a expressão de sentimento de alegria, descontração, satisfação, inclusão, interação e colaboração, com o despertar de um coletivo unido pelo desejo de mudanças na sua práxis. Por fim, a prática interprofissional colaborativa em saúde foi destacada como uma estratégia essencial para se alcançar a integralidade do cuidado. A abordagem da EIP à luz de processos educacionais inovadores tornou a aprendizagem mais afetiva, alegre, problematizadora e com maior tomada de decisões.
Palavras-chave: Educação interprofissional. Aprendizado colaborativo. Relações interprofissionais. Comportamento cooperativo. Aprendizagem ativa.
Abstract
Interprofessional health education (EIP) is an activity that involves two or more professionals who learn together interactively to improve collaboration and quality of health care. Thus, this study describes the experience of using active teaching-learning methodologies in collaborative interprofessional practice with public health educators. This is an experience report from the workshop “Dialogues with interprofessionality”. The practice of “Welcoming” was the approach chosen to initiate interprofessional dialogue, with the purpose of building a network of trust and solidarity. In “Interprofessional Recognition”, participants reflected on the new possibilities for the production of shared care. Group formation was based on dialogical interaction, through the “Diversity Necklace”, which allowed the construction of a relaxed and participative environment. With “Educational Trip”, feelings and rationalities were generated that contributed to the development of collaboration, mutual respect, trust and recognition of various professions, with interdependence and complementarity of knowledge and actions to achieve comprehensive care. In “Interprofessionality Circle” there was expression of joy, relaxation, satisfaction, inclusion, interaction and collaboration, with the awakening of a collective unit bound by the desire for changes in praxis. Finally, collaborative interprofessional
practice in health was stressed as an essential strategy to achieve comprehensive care. The EIP approach based on innovative educational processes made learning more affective, joyful, problematic and led to better decision-making.
Keywords: Interprofessional education. Collaborative learning. Interprofessional relations. Cooperative behavior. Active learning.
La educación sanitaria interprofesional (EIP) en salud es una actividad que involucra a dos o más profesionales que aprenden juntos de manera interactiva para mejorar la colaboración y la calidad de la atención médica. El presente estudio tiene como objetivo compartir la experiencia del uso de metodologías activas de enseñanza-aprendizaje en la práctica interprofesional colaborativa con educadores de salud pública. Este es un informe de experiencia del taller “Diálogo con interprofesionalidad”. La práctica de “Bienvenida” fue el enfoque elegido para iniciar el diálogo interprofesional, con el propósito de construir una red de confianza y solidaridad. En el “(re)conocimiento interprofesional”, los participantes reflexionaron sobre las nuevas posibilidades para la producción de atención compartida. La formación de los grupos se basó en la interacción dialógica, por medio de “collar diversidad”, que permitió la construcción de un ambiente relajado y participativo. Con el “viaje educativo”, se generaron sentimientos y racionalidades que contribuyeron al desarrollo de la colaboración, el respeto mutuo, la confianza y el reconocimiento de las diversas profesiones, con interdependencia y complementariedad de conocimientos y acciones, para una atención integral. En la “ciranda de interprofesionalidad” se expresó un sentimiento de alegría, relajación, satisfacción, inclusión, interacción y colaboración, con el despertar de un colectivo unido por el deseo de cambios en su praxis. Finalmente, la práctica interprofesional colaborativa en salud se destacó como una estrategia esencial para lograr una atención integral. El enfoque de la EIP a la luz de procesos educativos innovadores hizo que el aprendizaje fuera más afectivo, alegre, problemático y con una mayor toma de decisiones.
Palabras clave: Educación interprofesional. Aprendizaje colaborativo. Relaciones interprofesionales. Conducta cooperativa. Aprendizaje activo.
A prática interprofissional colaborativa em saúde está em processo de construção no Brasil, e tem sido inserida na formação profissional por meio da educação interprofissional (EIP), que é alcançada a partir da interação de duas ou mais profissões que aprendem com, a partir e sobre o outro para melhorar a colaboração e qualidade do cuidado1. Além disso, há os processos de trabalho das equipes de saúde que demandam, cada vez mais, qualificação das relações e colaboração entre as categorias profissionais. Nesse contexto, destaca-se a importância de novos métodos educacionais como ponto crucial na construção de práticas interprofissonais colaborativas na saúde coletiva.
Nessa perspectiva, a inserção de métodos ativos de ensino aprendizagem na EIP tem um papel fundamental para o entendimento das relações entre as profissões, melhorando a comunicação e as práticas colaborativas em saúde. Para Costa2 ainda há resistência na ruptura de modelos educacionais atualmente utilizados, o que reverbera na forma de atenção à saúde pautada na divisão do trabalho. Dessa forma, faz-se necessário fortalecer o entendimento de que as especificidades das profissões são complementares e que a lógica da prática interprofissional colaborativa surge como estratégia de melhorar a qualidade da atenção à saúde.
A comunicação é um fator necessário na prática interprofissional colaborativa em saúde, e somada à resolução de conflitos interprofissionais torna-se de suma importância no rompimento de paradigmas culturais. Há na estrutura educacional uma visão de negação do valor da pluralidade profissional em saúde, a partir de barreiras como a educação por disciplinas, as quais limitam o desenvolvimento da compreensão e da comunicação3 Com essa visão, entende-se que a educação dos profissionais de saúde necessita de uma leitura mais ampla das especificidades, de forma dialogada, compreendendo a importância de cada profissional e suas relações.
As inovações nos processos educacionais são fortes aliados no rompimento dessas barreiras e na consolidação da formação pautada na colaboração e na perspectiva de que a interprofissionalidade é um meio para a melhoria no cuidado com a saúde, pensando no atendimento ao princípio de equidade, estabelecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Assim, como aborda Freire4, é imprescindível refletir sobre a necessidade de o professor buscar novos estímulos didáticos para vencer as dificuldades e encontrar meios de despertar o interesse pelo aprender.
Diante da ótica da inovação do ensino, na perspectiva interprofissional, as metodologias ativas são aliadas no enfrentamento dos desafios, auxiliando na formação profissional que compreenda a realidade e, de maneira colaborativa, possa melhorar a qualidade
do atendimento à saúde. Para Morán5 essas metodologias são pontos de partida no alcance de processos mais avançados de reflexão e de reelaboração de novas práticas.
Dentro da perspectiva da educação como uma estratégia para compreender a EIP como um eixo potencializador a fim de fazer pensar, problematizar e construir novas práticas na saúde coletiva, este estudo tem o objetivo de compartilhar a vivência do uso de metodologias ativas de ensino-aprendizagem na prática interprofissional colaborativa com educadores da saúde coletiva.
Este relato de experiência trata-se de uma iniciativa que ocorreu através do componente curricular “Interdisciplinaridade em Saúde Coletiva” oferecido pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. Essa cooperação surgiu da parceria entre a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e a Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob), através do Doutorado Interinstitucional (Dinter). A oficina foi realizada em março de 2019, sendo conduzida por quatro doutorandos. O público alvo dessa iniciativa educacional foi dez docentes da Ufob que estavam matriculados no Dinter em Saúde Coletiva, além das professoras do referido componente.
Dentro desse cenário formativo e reflexivo, a oficina “Dialogando com a Interprofissionalidade” desenvolveu-se a partir da utilização de ferramentas educacionais construtivistas, seguindo as seguintes etapas: (1) Acolhimento; (2) (Re)conhecimento interprofissional; (3) Colar diversidade e formação de grupos diversos; (4) Viagem educacional e compartilhamento dos significados percebidos; e (5) Ciranda da Interprofisisonalidade.
A sistematização desta experiência seguiu as orientações da proposta metodológica de Holliday6. Segundo esse autor, a sistematização é a interpretação crítica de uma ou mais experiências que, a partir de seu ordenamento e reconstrução, descobre ou explicita a lógica do processo vivenciado, os fatos que intervieram no processo, como se relacionaram entre si e porque o fizeram dessa maneira. Nesse sentido, serão descritas as estratégias educacionais que compuseram a prática interprofissional.
O diálogo da interprofissionalidade foi iniciado por meio do acolhimento com a intenção de criar um vínculo. Nesse momento, o grupo foi convidado a encontrar a sua
representação profissional expressa em um objeto feito com bonecos de biscuit, contemplando as seguintes profissões: advogadas, enfermeira, engenheira sanitarista, odontóloga, farmacêuticos, nutricionistas e psicólogo. Posteriormente, foi aberto um espaço de fala para que o grupo revelasse a sua percepção acerca desse momento de acolhimento e da importância de cada ator na prática interprofissional em saúde.
Seguir os movimentos interprofissionais, foi solicitado, anteriormente, aos participantes que trouxessem um “objeto” que representasse sua profissão. No primeiro momento, todos os objetos foram expostos, o que contribuiu para gerar expectativas e curiosidade no grupo. Em seguida, foi solicitado o compartilhamento dos significados relacionados à sua prática profissional.
Os grupos de trabalho foram formados a partir da dinâmica do “Colar Diversidade”, uma dinâmica inovadora que permite a interação dos participantes, tendo como principal objetivo a criação de grupos que apresentassem perfis com características diversas. Nessa direção, todos foram convidados a escrever em tarjetas coloridas as seguintes informações: nome; profissão; hobby; qualidade e defeito. Em seguida houve a exposição dessas informações em forma de um “colar”, com auxílio de um barbante. Após a montagem do colar, todos deveriam se movimentar pela sala, ao som da música “Admirável Chip Novo” da cantora Pitty, com a finalidade de (re)conhecer os colegas e formar grupos com características diversas.
Na busca da construção do conhecimento, utilizou-se a viagem educacional (VE) como ferramenta educativa, com a finalidade de construir novas racionalidades e sentimentos, por meio das interações com o grupo. A VE ocorreu seguindo os movimentos descritos por Mourthé Junior7 e Mattos8. A fim de disparar ideias, sentimentos e emoções acerca da EIP, realizou-se a exposição do curta-metragem For the birds (2000). Ele foi dirigido por Ralph Eggleston e conta a história de um grupo de pássaros pouco receptivos com a chegada de um pássaro de outra espécie.
Em seguida, utilizou um episódio da série brasileira Unidade básica, criada por Ana Petta, Helena Petta e Newton Cannito, que é dirigida por Carlos Cortez e Caroline Fioratti. Nela é apresentada a rotina de uma Unidade Básica de Saúde da periferia de São Paulo,
mostrando, a complexidade do trabalho em saúde e um olhar mais amplo do cuidado sobre as diferentes vulnerabilidades que afetam a saúde da população. No segundo momento, foi disparada a seguinte pergunta norteadora: “Como posso realizar a prática colaborativa interprofissional no cuidado em saúde?”. Posteriormente, houve o compartilhamento dos significados percebidos.
No encerramento da oficina realizou-se a ciranda da interprofissionalidade com a intencionalidade de evocar sentimentos, concentração, raciocínio, movimentos e laços afetivos com as emoções transmitidas através da música “A Roda” da Sarajane.
O trabalho interprofissional e a interdisciplinaridade ainda são insipientes nas universidades brasileiras, que mantêm hegemonicamente um padrão de ensino uniprofissional e tradicional9. Em contraponto a essa realidade, idealizou-se a oficina “Dialogando com a Interprofissionalidade”, com a intencionalidade de provocar reflexão acerca da importância da EIP na práxis pedagógica, por meio da educação ativa. Segundo Mattos e Gomes10, a utilização de dispositivos ativos possibilita acompanhar a construção dos saberes, tornando a aprendizagem mais prazerosa, além de incentivar o desenvolvimento do pensamento crítico-reflexivo.
A inserção dos dispositivos ativos gera inicialmente surpresa e insegurança aos participantes, principalmente por buscar romper com o paradigma do ensino tradicional, método que tem guiado há tempos os processos educacionais dos profissionais de saúde11. Segundo Freire, a educação “bancária” está centrada na transmissão de informações, em que o educando é um depositário passivo de conhecimento e não existe uma relação dialógica entre educador e educando, nem entre conteúdo e realidade12.
Assim, as estratégias pedagógicas adotadas foram centradas no protagonismo dos educandos, possibilitando o desenvolvimento do olhar ampliado sobre a prática da EIP, deixando vivas as seguintes reflexões: Estamos sendo interprofissionais na nossa práxis pedagógica? Como tornar-nos-emos interprofissionais? Como posso realizar a prática colaborativa interprofissional no cuidado em saúde? Nessa direção, a aprendizagem problematizadora foi utilizada para estimular o desenvolvimento do raciocínio crítico e reflexivo dos educadores da saúde coletiva. Silva et al.13:287 defendem que “a problematização do conhecimento suscita a busca do novo”. Essa busca tornou o caminho prazeroso atribuindo sentidos, significados, diversidades e compreensões.
A prática do acolhimento foi a abordagem escolhida para iniciar o diálogo da interprofissionalidade, com a finalidade de construir uma rede de confiança e solidariedade. Franco, Buena e Merhy14 defendem que o acolhimento e o vínculo são estratégias efetivas na construção das relações. Os olhares tornaram-se alegres e afetivos ao observarem as suas representações profissionais expressas em bonecos de biscuit (Figura 1). Esse contato possibilitou aproximação entre o grupo, com criação de um ambiente harmônico, criativo e curioso. Dessa forma, procurou-se desenvolver uma escuta qualificada, convidando os participantes a embarcarem na rica aventura da aprendizagem e do cuidado em saúde. Escutar transcende o ouvir, visto que não são apenas as palavras que penetram em nosso ser, mas todo o sentido posto nelas pela pessoa que fala15.

O arranjo circular dos objetos disparou reflexões acerca do cuidado interprofissional em saúde. A comunicação foi o domínio reconhecido pelo grupo como primordial para o cuidado centrado no usuário, reforçando a necessidade da construção compartilhada de saberes, com respeito à singularidade das práticas profissionais. O diálogo autêntico favorece o aprendizado através da reflexão na prática cotidiana e problematização dos saberes16. Contudo, a execução da comunicação de caráter interprofissional e colaborativo ainda é uma ação desafiadora. Segundo Previato e Baldissera17 a condução do processo de trabalho

compartilhado, dialógico e transformador é um desafio vivenciado pelas equipes da atenção primária a saúde na concretização da prática interprofissional colaborativa.
Nesse momento foi possível problematizar o trabalho em equipe, a colaboração interprofissional e a prática colaborativa interprofissional. O trabalho em equipe foi associado à prática colaborativa entre o grupo. Assim, defendeu-se a ideia de que não basta ter somente equipes integradas e efetivas, é preciso que os profissionais colaborem entre si e com outras equipes da rede de atenção à saúde. Morgan, Pullon e McKinlay18 consideram a colaboração interprofissional como um termo amplo que abriga a prática colaborativa e o trabalho em equipe. A prática colaborativa interprofissional refere-se ao compartilhamento de conhecimento e habilidades na prática dos serviços de saúde19,20. Já o trabalho em equipe tem sido definido como um nível mais profundo do trabalho interprofissional, com intensa interdependência das ações19,21. Essa diferenciação dos termos contribuiu para iluminar as modalidades do trabalho interprofissional.
Os educadores da saúde coletiva vão se formando no decorrer da vida acadêmica, com seus itinerários (re)construídos a partir da interação com a assistência e com a comunidade22. Assim, os participantes conectaram suas próprias trajetórias a partir da construção de novas possibilidades de ação e produção do conhecimento na estratégia educacional do “(re)conhecimento interprofissional”. A exposição dos objetos (Figura 2) gerou curiosidade e reflexão sobre o cuidado compartilhado, a partir das singularidades de cada profissão. Essa colaboração assume especial importância no contexto da saúde coletiva, a partir da premissa de que o SUS é interprofissional e que congrega diferentes profissões para atuarem de forma integrada11
A utilização dos objetos gerou representações profissionais (Figura 2). Representar significa reapresentar, ou seja, é desvelar um significado, às vezes inconsciente e subjetivo23. Através da exposição dos objetos, o grupo pode ter uma visão das diferentes áreas de conhecimento, mas também do sujeito, que, para ser reconhecido, demonstra a sua profissão e as condutas que a circundam. A dicotomia observada na representação da profissão possibilitou ampliar o olhar sobre as práticas de cuidado em saúde. Estimulou-se a mudança da visão do cuidado como um mero conjunto de procedimentos técnicos, para um cuidado como um constructo filosófico. A compreensão filosófica remete aos sentidos que as ações de saúde adquirem frente à interação, entre dois ou mais sujeitos, que visa aliviar o sofrimento ou o alcance do bem-estar, mediado por conhecimentos especificamente voltados para essa finalidade24. Assim, buscou-se constituir um saber coletivo e comum, atribuindo novos significados para o trabalho interprofissional.
A EIP como criadora de espaços para a prática colaborativa favorece o agrupamento de várias profissões para aprender com os outros e sobre os outros25. Na dinâmica do “colar diversidade”, foi possível gerar um ambiente descontraído e participativo, privilegiando a comunicação entre os participantes. A formação dos grupos ocorreu de maneira interativa, com estimulo ao trabalho em equipe e a troca de saberes, além do respeito à diversidade de ideias e cooperação no desenvolvimento da oficina. Uma equipe integrada envolve indivíduos que interagem entre si e compartilham o processo de negociação para alcançar objetivos comuns26.
A utilização da música “Admirável Chip Novo” da Pitty, como um dispositivo educacional, também possibilitou criar um diálogo com as práticas de cuidado em saúde. Na melodia, na harmonia e no ritmo, a música traz em si os elementos do pensar, do sentir e do querer27. O imperativo da música gerou reflexão acerca da mecanicidade, ainda hegemônica, que busca “robotizar” as práticas de cuidado. O modelo biomédico foi apontado pelo grupo como não efetivo, dada a pluralidade humana. Segundo Ayres24 é preciso combinar a clínica como forma de atenção a sujeitos, em sua unidade e complexidade, capaz de ouvi-los

e de entendê-los no seu próprio discurso e na sua própria expressão de sofrimento. As diversas facetas adquiridas nesse percurso contribuíram para se pensar de forma ampliada o processo saúde-doença-cuidado.
Na busca por uma prática colaborativa, formou-se o grupo interprofissional, pautado na interação dialógica, com a finalidade de contribuir para a integração, compartilhamento de ideias e democratização nas relações. Por meio da metodologia ativa, é possível desenvolver competências como: colaboração, liderança, motivação, planejamento, organização, execução, comprometimento, responsabilidade, satisfação, interesse, capacidade de trabalhar em grupo e construção coletiva do conhecimento8,10,28,29
A VE permitiu a apropriação de conceitos e condutas necessárias para a prática interprofissional colaborativa em saúde a partir dos significados percebidos no eixo razãoemoção, por meio da exposição do curta-metragem For the birds e da série Unidade básica. O alinhamento teórico-conceitual do grupo foi estruturado através do levantamento das percepções dos participantes, que destacaram a relevância do trabalho em equipe, integração de ações, comunicação, respeito e reconhecimento dos papéis profissionais, compreensão do processo de trabalho, centralidade do usuário no processo de cuidado, cuidado integral e troca de conhecimentos. A VE potencializou a compreensão acerca das práticas de cuidado, através da interpretação e associação singular dos participantes, com suas experiências prévias.
Os significados percebidos pelo grupo estão de acordo com as competências necessárias para a prática colaborativa. Segundo o referencial teórico de competências interprofissionais da Canadian Interprofessional Health Collaborative30, para alcançar essa prática alguns domínios são essenciais, como: a participação dos usuários, famílias e comunidade; comunicação interprofissional; clarificação de papéis profissionais; funcionamento das equipes; liderança colaborativa; e resolução de conflitos. O reconhecimento dessas competências contribuiu, de forma sinérgica, para refletir sobre o caminho necessário na inserção dessa prática nos serviços de saúde.
Durante o compartilhamento coletivo também foram esclarecidas as diferenças conceituais entre os termos interprofissionalidade e interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade refere-se à esfera das disciplinas, ciências ou áreas de conhecimento, enquanto a interprofissionalidade diz respeito à prática profissional, na qual se desenvolve o trabalho das equipes de saúde26. Apesar de serem conceitos discutidos já há alguns anos, eles ainda se mostraram novos no que tange à questão conceitual, revelando um processo tímido de incorporação na prática. A clarificação conceitual possibilitou uma melhor aproximação com as diversas facetas do cuidado em saúde.
O cuidado em saúde foi uma característica bastante discutida no grupo. Dessa forma, defendeu-se a importância em assistir o usuário de forma integral, abrangendo a perspectiva biopsicossocial e espiritual. No atendimento integral é preciso compreender o indivíduo enquanto um ser holístico e biopsicossocial em sua essência31. Para tal, os profissionais ampliam o olhar para além da lógica da “intervenção pura”, na tentativa de alcançar os contornos do que se compreende como “cuidar”32. “Cuidar é querer, é fazer projetos, é moldar a argila. Querer é o atributo e o ato do ser”24:19. Assim, destacou-se o cuidado como uma dimensão humana, que perpassar pela captação das subjetividades e necessidades dos indivíduos. Nesse momento, a arte de cuidar se expandiu para as reflexões e intervenções necessárias no campo da saúde. Nesse sentido, a prática interprofissional colaborativa foi apontada pelos participantes como um guia para se alcançar a integralidade do cuidado. Acredita-se que através da cooperação solidária nos fazeres e a atenção corresponsável com as necessidades de saúde, possam gerar um agir coletivo em prol da produção de um novo cuidar. Potencializar a articulação, dos diferentes saberes e práticas profissionais, contribui para a concretização da integralidade do cuidado33. Desse modo, os profissionais, também, precisam perceber-se e perceber o doente como sujeito, entendendo-o como ser real, que produz sua história24
Assim, buscou-se problematizar a construção de uma rede de cuidado alegre, quente, afetiva e focada nos projetos de felicidade de cada indivíduo.
Segundo Ayres24, é essencial conhecer o projeto de felicidade que enraíza a vida efetivamente vivida pelo usuário e o que ele quer e acha que seja a saúde e a atenção à saúde. Nessa direção, apontou-se a necessidade da humanização no cuidado, com criação de vínculos entre equipe e usuário. Para que ocorra o cuidado humanizado é preciso ocorrer empatia, afetividade, envolvimento e aproximação entre o cuidador e aquele que é cuidado34.
Para Merhy et al.35, a humanização do atendimento, como tecnologia leve, é uma forma de gerenciar as relações de trabalho. Diante desse cenário, destacou-se a urgência em manter viva a humanidade nas práticas de cuidado. Assim, buscou sensibilizá-los da importância em transformar a práxis pedagógica, a fim de possibilitar o desenvolvimento das competências necessárias para o cuidado interprofissional e humanizado.
Ainda nesse espaço de colaboração, utilizou-se a “ciranda da interprofissionalidade” como um dispositivo para manter os princípios do reconhecimento, autonomia, ação, apropriação e consciência coletiva na EIP. Essa metodologia participativa reforçou a importância da diversidade de profissionais para a melhoria do cuidado em saúde. No movimento da ciranda, os participantes expressaram sentimento de alegria, descontração, satisfação, inclusão, interação e colaboração, com o despertar de um coletivo unido pelo desejo de mudanças
na sua práxis. A ideia da necessidade de movimento frente à música “A Roda” da Sarajane, entre as diferentes profissões, na festividade do cuidar, tornou-se objeto de reflexão, através do intercâmbio de sentidos, que buscou sensibilizar os profissionais a se tornarem agentes transformadores e facilitadores da EIP.
Por fim, os educadores da saúde coletiva destacaram a potência da proposta por possibilitar uma construção coletiva, enfatizando a pertinência dos temas abordados, a oportunidade de aprendizagem, as contribuições pessoais, profissionais e os desafios para construção das competências interprofissionais. Nessa busca, pela edificação da prática interprofissional, reforçou-se a importância da colaboração, respeito mútuo, confiança e reconhecimento das diversas profissões, com interdependência e complementaridade dos saberes e ações, para se alcançar a integralidade do cuidado.
Assumir a EIP como eixo norteador da oficina e desenvolvê-la por meio da metodologia ativa, possibilitou a construção da aprendizagem permeada pela interação dos sujeitos com seus saberes, sentimentos, atitudes, crenças e costumes. A combinação dos dispositivos de aprendizagem pode tornar a iniciativa mais estimulante e interessante, na tentativa de contribuir para uma aprendizagem significativa. Assim, seguimos inspirados na construção da educação sonhadora, afetiva e alegre, como defende Rubem Alves36:74, “os sonhos são os mapas dos navegantes que procuram novos mundos. Na busca dos seus sonhos você terá de construir um novo saber […]. E os seus pensamentos terão de ser outros, diferentes daqueles que você agora tem”.
Abordar a EIP à luz de processos educacionais inovadores estimulou a reflexão dos educadores da saúde coletiva, em direção a possíveis transformações na práxis pedagógica. A tessitura da oficina também permitiu problematizar o entendimento acerca do cuidado em saúde na perspectiva da interprofissionalidade. Destacou-se a prática interprofissional colaborativa em saúde como estratégia essencial no cenário da saúde, por possibilitar a mudança do modelo hegemônico de atenção e potencializar o trabalho em equipe, com respeito à integralidade do cuidado.
Desse modo, reforça-se a importância da EIP na Graduação, Pós-Graduação e nos serviços de saúde, enquanto oportunidade para a (re)construção dos saberes e dos fazeres em territórios vivos na produção do cuidado. Assim, espera-se que sejam potencializados espaços dialógicos, que materializem a colaboração e a comunicação interprofissional. Sugere-se ainda a
adoção de métodos ativos, ancorados no protagonismo e na construção compartilhada do saber, por tornar a aprendizagem afetiva, alegre, problematizadora e com maior tomada de decisões.
1. Concepção do projeto, análise e interpretação dos dados: Mússio Pirajá Mattos e Daiene Rosa Gomes.
2. Redação do artigo: Mússio Pirajá Mattos, Daiene Rosa Gomes e Maiara Macêdo Silva.
3. Revisão crítica relevante do conteúdo intelectual e Aprovação final da versão a ser publicada: Mússio Pirajá Mattos e Daiene Rosa Gomes.
4. Ser responsável por todos os aspectos do trabalho na garantia da exatidão e integridade de qualquer parte da obra: Mússio Pirajá Mattos, Daiene Rosa Gomes, Maiara Macêdo Silva, Samara Nagla Chaves Trindade, Elizabete Regina Araújo de Oliveira e Raquel Baroni de Carvalho.
1. Barr H, Low H. Introdução à educação interprofissional. Fareham: Caipe; 2013.
2. Costa MV. The interprofessional education in Brazilian context: some reflections. Interface. 2016;20(56):197-8.
3. Gocan S, Laplante MA, Woodend K. Interprofessional collaboration in Ontario’s family health teams: a review of the literature. J Res Interprof Pract Educ. 2014;3(3):1-19.
4. Freire P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo (SP): Paz e Terra; 1996.
5. Morán J. Mudando a educação com metodologias ativas. In: Souza CA, Morales OET, organizadores. Coleção mídias contemporâneas: convergências midiáticas, educação e cidadania: aproximações jovens. Ponta Grossa (PR): Foca Foto/Proex/UEPG; 2015. p. 15-33.
6. Holliday OJ. Para sistematizar experiências. João Pessoa (PB): UFPB; 1996.
7. Mourthé CA Jr, Lima VV, Padilha RQ. Integrating emotions and rationalities for the development of competence in active learning methodologies. Interface. 2018;22(65):577-88.
8. Mattos MP. Viagem educacional e oficinas temáticas como ferramentas de formação construtivista em psicofarmacologia clínica. RECIIS. 2018;12(4):478-88.
9. Dias IMAV, Pereira AK, Batista SHSS, Casanova IA. A tutoria no processo de ensino aprendizagem no contexto da formação interprofissional em saúde. Saúde Debate. 2016;40(111):257-67.
10. Mattos MP, Gomes DR. Vivências interprofissionais em saúde: formação inovadora da Liga Interdisciplinar de Saúde da Criança no Oeste da Bahia. In: Ferla AA, Torres OM, Baptista GC, Schweickardt JC, organizadores. Ensino cooperativo e aprendizagem baseada no trabalho: das intenções à ação em equipe de saúde. Porto Alegre (RS): Rede Unida; 2019. p. 26-45.
11. Morin E. Os sete saberes necessários à educação do futuro. 2a ed. São Paulo (SP): Cortez; 2000.
12. Freire P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo (SP): Paz e Terra; 1996.
13. Silva JMP, Dallabrida JA, Pansera-de-Araújo MC, Strada V, Ceolin T, Nonenmacher SEB. Água, fator determinante para a vida: uma possibilidade de articulação da biologia e química no ensino médio. In: Galiazzi MC, Auth M, Mancuso R, organizadores. Construção curricular em rede na educação em ciências: uma aposta de pesquisa na sala de aula. Ijuí: Unijuí; 2007. p. 281-95.
14. Franco TB, Bueno WS, Merhy EE. O acolhimento e os processos de trabalho em saúde: Betim, Minas Gerais, Brasil. Cad Saúde Pública. 1999;2(15):345-53.
15. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. Atenção hospitalar. Brasília (DF); 2011.
16. Freire P. Pedagogia do oprimido. 58a ed. Rio de Janeiro (RJ): Paz e Terra; 2011.
17. Previato GF, Baldissera VDA. A comunicação na perspectiva dialógica da prática interprofissional colaborativa em saúde na Atenção Primária à Saúde. Interface. 2018;22(suppl. 2):535-1547.
18. Morgan S, Pullon S, McKinlay E. Observation of interprofessional collaborative practice in primary care teams: an integrative literature review. Int J Nurs Stud. 2015;52(7):1217-30.
19. Peduzzi M, Agreli HF. Trabalho em equipe e prática colaborativa na Atenção Primária à Saúde. Interface. 2018;22(suppl. 2):1525-34.
20. Hammick M, Freeth D, Koppel I, Reeves S, Barr H. A best evidence systematic review of interprofessional education: BEME Guide no. 9. Med Teach. 2007;29(8):735-51.
21. Peduzzi M. Equipe multiprofissional de saúde: conceito e tipologia. Rev Saúde Pública. 2001;35(1):103-9.
22. Teixeira CF, Coelho MTAD. Uma experiência inovadora no Ensino Superior: bacharelado interdisciplinar em Saúde. Salvador (BA): Edufba; 2014
23. Morera JAC, Padilha MI, Silva DGV, Sapag J. Aspectos teóricos e metodológicos das representações sociais. Texto Contexto Enferm. 2015;24(4):1157-65.
24. Ayres JRCM. Cuidado: trabalho e interação nas práticas de saúde. Rio de Janeiro (RJ): Uerj; 2009.
25. Batista NA, Rossit RAS, Batista SHSS, Silva CCB, Uchôa-Figueiredo LR, Poletto PR. Interprofessional health education: the experience of the Federal University of São Paulo, Baixada Santista campus, Santos, Brazil. Interface. 2018;22(suppl. 2):1705-15.
26 Peduzzi M, Normam IJ, Germani ACCG, Silva JAM, Souza GC. Educação interprofissional: formação de profissionais de saúde para o trabalho em equipe com foco nos usuários. Rev Esc Enfer USP. 2013;47(4):977-83.
27. Friedenreich CA. A educação musical fundamentada na ciência espiritual. São Paulo (SP): Associação Pedagógica “Rudolf Steiner”; 1990.
28. Mattos MP. Metodologias ativas auxiliando no aprendizado das ciências morfofuncionais numa perspectiva clínica: um relato de experiência. Rev Ciênc Méd Biol. 2017;16(2):146-50.
29. Mattos MP, Gomes DR, Aleluia IRS, Sousa MLT. Promoção a saúde de estudantes universitários: contribuições para um espaço de integração e acolhimento. 2018;4(4):159-73.
30. Canadian Interprofessional Health Collaborative. A national interprofessional competency framework. Vancouver; 2010.
31. Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília (DF); 1988.
32. Carnut L. Cuidado, integralidade e atenção primária: articulação essencial para refletir sobre o setor saúde no Brasil. Saúde Debate. 2017;41(115):1177-86.
33. Pirolo SM, Ferraz CA, Gomes R. A integralidade do cuidado e ação comunicativa na prática interprofissional da terapia intensiva. Rev Esc Enferm USP. 2011;45(6):1396-402.
34. Baggio MA. O significado de cuidado para profissionais da equipe de enfermagem. Rev Eletrônic Enfer. 2006;8(1):8-16.
35. Merhy EE, Chakkour M, Stéfano E, Stéfano ME, Santos CM, Rodrigues RA. Em busca de ferramentas analisadoras das tecnologias em saúde: a informação e o dia a dia de um serviço, interrogando e gerindo trabalho em saúde. In: Merhy EE, Onocko R, organizadores. Agir em saúde: um desafio para o público. São Paulo (SP): Hucitec; 2006. p. 113-50.
36. Alves R. A alegria de ensinar. 3a ed. São Paulo (SP): Ars poética; 1994.
Recebido: 30.5.2019. Aprovado: 28.4.2020.
Hudson
Manoel Nogueira CamposbMússio
Pirajá Mattosc ResumoA educação construtivista é uma excelente alternativa para direcionar uma formação farmacêutica com as competências necessárias para atuar no âmbito da gestão do Sistema Único de Saúde (SUS). Este artigo tem como objetivo relatar a vivência do ambiente virtual como ferramenta de formação construtivista em saúde. Trata-se da experiência entre educador e educandos do curso de farmácia, com uso de metodologias ativas de ensino-aprendizagem baseadas no construtivismo. Em busca dessa construção, foi utilizado o webfólio como ferramenta de formação construtivista na disciplina práticas em saúde coletiva II: gestão. Assim, a proposta de utilização desse método é fundamentada à luz da obra de Paulo Freire em simbiose com Manoel de Barros. O processo de aprendizagem com a construção do webfólio e viagem educacional permitiu refletir sobre a realidade da nossa sociedade e a formação de agentes transformadores para gestão do SUS. Assim, os educandos foram empoderados e sensibilizados a seguir com o compromisso de reproduzir a corresponsabilidade no âmbito profissional, buscando a qualidade do atendimento com vistas à integralidade da assistência ao cuidado.
A utilização dessas ferramentas foi assertiva por estimular uma formação por competências, interdisciplinaridade, interprofissionalidade, além de permitir nos maravilharmos com novas experimentações por meio de uma sociedade que muda permanentemente.
Palavras-chave: Sistema Único de Saúde. Comunicação interdisciplinar. Metodologia ativa. Filmes cinematográficos.
a Graduanda em Farmácia pela Universidade Federal do Oeste da Bahia. Barreiras, Bahia, Brasil. E-mail: milacunha035@gmail.com
b Graduando em Farmácia pela Universidade Federal do Oeste da Bahia. Barreiras, Bahia, Brasil. E-mail: hudmanoel@gmail.com
c Farmacêutico. Doutorando em Saúde Coletiva pela Universidade Federal do Espírito Santo. Docente do Centro das Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Barreiras, Bahia, Brasil. E-mail: mussio.mattos@ufob.edu.br
Endereço para correspondência: Universidade Federal do Oeste da Bahia, Centro das Ciências Biológicas e da Saúde. Rua Professor José Seabra de Lemos, n. 316, Recanto dos Pássaros. Barreiras, Bahia, Brasil. CEP: 47808-021.
E-mail: mussio.mattos@ufob.edu.br
Abstract
Constructivist education is an excellent alternative to direct pharmaceutical training with the necessary skills to act within the scope of the Unified Health System (SUS) management. This article reports the experience of virtual environments as a tool for constructivist education in health, namely the experience between educator and Pharmacy students with use of active teaching-learning methodologies based on constructivism. A webfólio was used as a tool for constructivist training in the discipline Practices in Collective Health II: Management. Thus, the theoretical framework is based on the work of Paulo Freire and Manoel de Barros. The learning process with the construction of the webfólio and educational trip allowed to reflect on the reality of our society and the formation of transforming agents for SUS management. Thus, the students were empowered and sensitized to follow the commitment to reproduce co-responsibility in professional settings, seeking the quality of care while aiming for the integrality of care. The use of these tools was assertive as it stimulated education based on competences, interdisciplinarity, interprofessionality, in addition to allowing us to marvel at new experiments through a society that changes permanently.
Keywords: Unified health system. Interdisciplinary communication. Active methodology. Cinematographic films.
LA FORMACIÓN CONSTRUCTIVA DE EDUCANDOS DE FARMACIA EN LA GESTIÓN DEL SUS: ENFOQUES Y CONTRIBUCIONES EN ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE
La educación constructivista es una excelente alternativa para brindar la formación farmacéutica con las competencias necesarias para actuar en el ámbito de la gestión del Sistema Único de Salud (SUS). Este artículo tiene como objetivo relatar la vivencia del ambiente virtual como una herramienta de formación constructivista en salud. Esta es la experiencia entre educador y alumnos del curso de Farmacia con el uso de metodologías activas de enseñanza-aprendizaje basadas en el constructivismo. Para esa construcción se utilizó el webfólio como herramienta de formación constructivista en la disciplina Prácticas en Salud Colectiva II: Gestión. Así la propuesta de utilización de este método está fundamentada bajo la luz de la obra de Paulo Freire en simbiosis
con Manoel de Barros. El proceso de aprendizaje con la construcción del webfólio y el viaje educativo permitió reflexionar sobre la realidad de nuestra sociedad y la formación de agentes transformadores para la gestión del SUS. Los estudiantes fueron empoderados y sensibilizados a seguir con el compromiso de reproducir la corresponsabilidad en el ámbito profesional, buscando la calidad de la atención para la integralidad de la asistencia al cuidado. La utilización de esas herramientas permitió estimular una formación por competencias, interdisciplinaridad, interprofesionalidad, además de sorprendernos con nuevas experiencias en una sociedad que cambia permanentemente.
Palabras clave: Sistema Único de Salud. Comunicación interdisciplinaria. Metodología activa. Películas cinematográficas.
A educação construtivista é uma excelente alternativa para direcionar uma formação farmacêutica com as competências necessárias para atuar no âmbito da gestão do Sistema Único de Saúde (SUS). Assim, é importante uma formação com a qual o educando tenha autonomia e se torne o protagonista da aprendizagem com capacidade de gerenciar o seu próprio conhecimento. Em consonância, Freire1 afirma que: “Saber que devo respeito à autonomia e à identidade do educando exige de mim uma prática em tudo coerente com este saber”. Nesse sentido, o uso do ambiente virtual via elaboração de webfólios permite a autoaprendizagem, pois contribui para a responsabilidade da produção do conteúdo e a interatividade na construção do conhecimento.
A educação profissional é imprescindível para a formação de sujeitos que refletem criticamente em uma sociedade em constante mudança. Nesse sentido, a educação construtivista, inspirada no estudo sobre as formas de aquisição do conhecimento, utiliza-se das metodologias ativas para gerar experiências reais ou simuladas, em busca de condições para solucionar, com sucesso, desafios advindos das atividades essenciais da prática social, em diferentes contextos2 Assim, as metodologias ativas constituem alternativas para a operacionalização do processo ensino-aprendizagem, tornando o educando o sujeito protagonista da ação3.
A aprendizagem construtivista engaja os atores do processo ensino-aprendizagem em iniciativas de reflexão e contribui para a formação de gestores com as habilidades necessárias para a tomada de decisões individuais e coletivas, favorecendo a construção de um perfil profissional que possua o olhar ampliado para o processo saúde-doença-cuidado4.
Portfólios como o webfólio são formas de avaliação dinâmica e eficiente do ensino. São pessoais e refletem o que o educando construiu ao longo de determinado período, sendo que o webfólio apresenta fotografias, vídeos, mapas conceituais, painéis de ideias e textos reflexivos, podendo ser construído de diversas formas através de blogs, sites e redes sociais. Trata-se de um processo de ressignificação da aprendizagem, por meio de interpretação e correlação com a prática em saúde, pois a reflexão produzida estabelece ligações entre saberes e fazeres.
No currículo de formação do farmacêutico, têm-se objetivado a interdisciplinaridade, definida por Periotto5 como a articulação de experiências acadêmicas e a incorporação de conhecimentos de diferentes áreas, a partir da fusão entre prática e didática e do contato real e direto com outras áreas. O ambiente virtual é um espaço que propicia a troca de saberes interdisciplinares, reduzindo a fragmentação do conhecimento e potencializando a qualidade da formação em saúde, pois há a interação entre educandos e profissionais de diferentes áreas, uma vez que o conteúdo exposto publicamente permite ao profissional se tornar capaz de perceber, enfrentar e resolver as demandas provenientes dos sistemas de saúde6.
A Resolução Conselho Nacional de Educação (CNE)/Câmara de Educação Superior (CES) nº 6, de 19 de outubro de 2017, é a responsável por instituir as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Farmácia7. Assim, estão dispostos os principais fundamentos e condições para uma formação generalista, humanista, crítica e reflexiva de farmacêuticos, para atuar em todos os níveis de atenção à saúde. Sousa e Bastos6 defendem que os educandos com vivências de atividades práticas no SUS minimizam as deficiências na formação do farmacêutico para o SUS.
Atualmente, o país vive uma crise política, econômica e social, o que traz impactos negativos para a gestão do SUS. A Emenda Constitucional (EC) nº 95/2016 propõe teto para os gastos e congela por vinte anos os recursos públicos que seriam destinados às áreas públicas, como o financiamento do SUS. Ou seja, o país se torna mais enfraquecido para decidir sobre sua política monetária, definir seu orçamento e organizar a produção, acarretando perda progressiva da autonomia
Nesse contexto, a utilização do ambiente virtual surge como desafio que nos direciona a tecer redes de formação na gestão do SUS com a intenção de desatar os nós por meio da reflexão permanente do aprendizado a partir das implicações da crise nos modelos de atenção, nos serviços de saúde e no cuidado. Assim, este artigo tem como objetivo relatar a vivência do ambiente virtual como ferramenta de formação construtivista em saúde.
Trata-se da experiência entre educador e educandos do curso de farmácia da Universidade Federal do Oeste da Bahia nos primeiros semestres de 2018 e 2019, com uso de metodologias ativas de ensino-aprendizagem baseadas no construtivismo. Em busca dessa construção, foi utilizado o webfólio como ferramenta de formação construtivista na disciplina práticas em saúde coletiva II: gestão. Assim, a proposta de utilização desse método é fundamentada à luz da obra de Paulo Freire em simbiose com Manoel de Barros. No sentido de compreender e comunicar a experiência vivenciada, e dela extrair ensinamentos, optou-se por utilizar a proposta metodológica de Holliday8. De acordo com o autor, a sistematização é uma interpretação crítica de uma ou mais experiências que, a partir de seu ordenamento e reconstrução, descobre ou explicita a lógica do processo vivenciado, os fatos que intervieram no processo, a forma como se relacionaram entre si e por quê. Sistematizar uma experiência significa, portanto, torná-la tanto o próprio objeto de estudo e de interpretação teórica quanto objeto de transformação.
Por meio do processo de sistematização, da permanente organização e reflexão sobre a prática, espera-se que fiquem mais claras as condições do contexto em que se desenvolveu a experiência; situações particulares enfrentadas; ações dirigidas para se conseguir determinado fim; resultados esperados e não esperados; percepções, interpretações e intenções dos diferentes sujeitos que intervêm no processo, bem como as relações e reações entre participantes. Sendo assim, serão explanadas as principais iniciativas que compuseram a construção desse ambiente virtual.
A elaboração do webfólio segue um plano em que o educando, virtualmente, reflete e explica como é construída sua aprendizagem, vencendo as barreiras da sala de aula.
A partir dos diálogos realizados, foi elaborado um plano de trabalho no qual o webfólio seria a ferramenta escolhida para o caminho da aprendizagem. O relato está estruturado com períodos de maior relevância e de maior motivação vivenciados pelos educandos, haja vista que compartilhar esses períodos pode despertar a motivação de outros cursos de graduação e de farmácia a optarem pelo webfólio como técnica avaliativa e/ou construtivista. Nesse sentido, os educandos foram sensibilizados, inicialmente, com a viagem educacional, realizada em grande grupo, com a exposição de episódios da série brasileira
Unidade básica, saúde em cena e Alzheimer: mudanças na comunicação. O objetivo inicial foi disparar sentimentos, racionalidades e emoções, a partir do contato com as produções artísticas A viagem educacional contribui para o ambiente educacional universitário de amadurecimento, problematização, autonomia e identificação das complexidades existentes9,10. Posteriormente, ao adquirirem o conhecimento necessário, articulados com a teoria, os educandos realizaram a vivência com os gestores e/ou gerentes dos serviços de saúde, a fim de gerar intercâmbio de conhecimentos que possibilitaram o diagnóstico situacional dos serviços de maneira ampliada.
Os caminhos percorridos nos serviços foram em diferentes pontos da rede como: Secretaria Municipal de Saúde, Coordenação da Atenção Básica, Centro de Atenção Psicossocial tipo II, Centro de Prevenção e Reabilitação do Oeste da Bahia, Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 horas), Hospital da Mulher e Conselho Municipal de Saúde. Assim, os webfólios foram construídos com registros desses momentos, descrição das atividades, reflexões e identificação desses espaços no contexto de crise. Durante a construção do material, ocorreram orientações constantes por parte do professor-facilitador para o (re)conhecimento da utilidade dos saberes, fazeres e práticas reflexivas durante o processo de gestão e produção do cuidado. Por fim, permitese ver e rever o conhecimento construído a partir da ressignificação das experiências vivenciadas.
Durante os caminhos percorridos nos serviços de saúde no município de Barreiras (BA), os educandos foram guiados pelo professor-facilitador a (re)pensar o território em que estavam envolvidos. Nesse momento, foi possível compreender a dinâmica dos serviços, as funções dos trabalhadores e o fluxo dos usuários/assistidos/pacientes, e assim perceber a dinâmica dos territórios que se tornavam vivos a partir de suas influências, inter-relações, espaços, produções, subjetividades, rotinas cotidianas e sentidos. Organizar um serviço que opere segundo a lógica do território é encontrar e ativar os recursos locais existentes, estabelecendo alianças com grupos e movimentos de arte ou com cooperativas de trabalho, para potencializar as ações de afirmação das singularidades e participação social11
No primeiro momento, na construção do webfólio, foi possível vivenciar a dificuldade de gerar autorreflexão e criatividade para despertar curiosidade e interesse aos leitores. A reflexão é uma forma de pensar criticamente a realidade, de olhá-la com clareza, abrangência e profundidade12. Destacou-se, portanto, o papel do professor-facilitador, que forneceu informações e guiou o processo reflexivo a partir das viagens educacionais e discussões temáticas que integravam teoria e prática, propiciando a produção de conhecimento e uma mudança de olhar, já que era possível ouvir diferentes argumentos a partir de outros pontos de vista.
A utilização do webfólio permitiu a construção de possibilidades por meio de uma prática educativa viva, alegre, afetiva, com todo o rigor científico e técnico e sempre em busca de transformação13. Assim, seguimos na perspectiva construtivista do conhecimento a partir de dispositivos educacionais em associação com as práticas nos serviços de saúde municipal. Os significados percebidos por meio do eixo razão-emoção das obras artísticas foram diversos e relacionados aos desafios das abordagens psicossociais, relação profissional-paciente, humanização, clínica ampliada e compartilhada, democracia, participação social, sensibilização, vínculo, compaixão, empatia e respeito. Há consonância com Barros14 quando ele diz: “Nosso conhecimento não era de estudar em livros, era de pegar, de apalpar, de ouvir e de outros sentidos”. Por isso, as viagens educacionais serviam como “outros sentidos” que tornaram o processo de formação na gestão do SUS motivador, crítico e realístico com a conjuntura atual. Nesse sentido, os significados percebidos representam instrumentos de grande relevância para a formação profissional na gestão do SUS. A humanização foi ganhando forma nas reflexões em um modelo de atenção que girou em torno de afeto, amor, empatia e respeito, como atos que desconstroem barreiras entre profissionais e na relação profissional-paciente. A ideia de passividade permitiu (re)pensar em diversos atores tornando-se ativos no processo saúde-doença-cuidado. Logo, as reflexões atingiram a clínica ampliada e compartilhada que consiste em uma forma de “contribuir para uma abordagem clínica do adoecimento e do sofrimento, que considere a singularidade do sujeito e a complexidade do processo saúde/doença”15. Assim, os educandos foram empoderados e sensibilizados a seguir com o compromisso de reproduzir a corresponsabilização no âmbito profissional, buscando a qualidade da atenção com vistas à integralidade da assistência ao cuidado.
Assim, foi possível seguir de mãos dadas com Freire1: “É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal maneira que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática”, e em consonância com as experimentações vivenciadas e oportunizadas pelo professor-facilitador e os gestores nos serviços de saúde A produção dos textos no ambiente virtual foi um grande desafio que despertou curiosidade e buscas por conhecimentos e palavras que gerassem discussões rápidas, estimulantes e de fácil acesso aos leitores virtuais.
A poesia de Manoel de Barros16 em Menino do mato diz que “um menino percebeu que usar as palavras poderia fazer prodígios e preencher vazios”. Logo, notamos que, ao trabalharmos com a produção dos textos reflexivos, foi necessário preencher a nossa memória com novos conhecimentos e atitudes pertinentes à formação profissional para a gestão do nosso SUS.
O uso do webfólio permitiu a aplicação do conhecimento no dia a dia de forma fluida, dinâmica e com mais entusiasmo, e fez perceber a capacidade dos gestores de liderar,
planejar, motivar, monitorar, atribuir qualidade, recriar permanentemente e tomar decisões e ações que dinamizam a organização do processo de trabalho17. Logo, passou-se a compreender a importância da interprofissionalidade e intersetoriedade, ou seja, o trabalho compartilhado em diferentes saberes e fazeres. Souto, Batista e Batista18 concordam que uma abordagem dessa natureza no processo de aprendizagem de educandos reflete em sua própria identidade profissional, ou seja, servirá para a formação de sujeitos com capacidade de construir respostas técnicas e científicas na sua prática junto a outras áreas profissionais. Nesse sentido, Martins e Waclawovsky19 afirmam: “É extremamente importante para que se alcance a integralidade da assistência em saúde”.
O processo saúde-doença-cuidado inclui um trabalho que permite o olhar através da gestão do cuidado, ou seja, gerindo a capacidade técnica, política e operacional que uma equipe de saúde possui para planejar a assistência aos usuários, no plano individual ou coletivo, promovendo a saúde no âmbito biopsicossocial, almejando a equidade da atenção20 Assim, o webfólio, sendo um instrumento de registro e reflexão na construção do conhecimento, permitiu gerar um dispositivo potencializador da formação por integrar diferentes percepções, imaginação e criatividade. Barros14 escreveu: “É também das percepções primárias que nascem arpejos e canções e gorjeios”. Como o próprio autor diz, as nossas observações são capazes de se transformar em algo desejável e agradável de ouvir, construir e presenciar.
Na gestão do SUS, independentemente do nível de atenção, uma das maiores dificuldades é a escassez de recursos financeiros, que apresentam, a cada dia, maior demanda.
A EC nº 95/2016 torna-se, portanto, um obstáculo ainda maior para que serviços sigam funcionando, e de forma eficiente, pois o financiamento do SUS nos estados e municípios é fortemente atingido na medida em que cerca de dois terços das despesas do Ministério da Saúde são transferidas, fundo a fundo, para ações de saúde, a cargo dos entes federados4. Nesse momento, foram (des/re)construídos em nossas práticas de autorreflexão os desafios da gestão, dos trabalhadores dos serviços e do impacto do congelamento dos gastos públicos na saúde da população.
Dessa maneira, faz-se importante, sob a visão do gestor, refletir sobre a atual crise política, econômica e social do país. Assim, Freire21 diz que “o homem poderá criar seu próprio mundo, seu Eu e suas circunstâncias, quando compreender a sua realidade e transformar as soluções a partir de hipóteses sobre o desafio dessa realidade”. Diante disso, o caminhar durante o processo de aprendizagem com a construção do webfólio permitiu refletir sobre a realidade da nossa sociedade e gerou inquietações e problematizações a respeito de como nos tornar agentes transformadores nesse processo e desenvolver coletivamente um planejamento
que contribua para melhorias na saúde da população. Nesse sentido, Freire21 afirma ainda que “a educação problematizadora, de caráter autenticamente reflexivo, implica um constante ato de desvelamento da realidade”.
O caminho dentro desse itinerário educacional cooperou para que a busca dos conhecimentos atingisse a aprendizagem extramuros. Essa metodologia estimulou uma prática ativa e participativa com apropriação de conceitos, palavras, habilidades e atitudes. Num trecho de seu livro, Barros14 diz: “Queria fazer parte das árvores como os pássaros fazem, mas o homem se transfigura somente pelas palavras”. Diante disso, a partir da apropriação do conhecimento (palavras), por meio das ferramentas utilizadas, foi possível vislumbrar as necessidades da gestão e direcionar possibilidades para uma sociedade que muda permanentemente.
Durante os diálogos com os gestores, surgiram discussões a respeito de ações de educação permanente em saúde, que são práticas implementadas via Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, instituída em 200422. Os gestores apontaram a necessidade de estímulo dessas práticas, que, segundo o Ministério da Saúde, conceituam-se como “aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho”. Isto é, aprendizagem contínua, no dia a dia, fundamental para manter conhecimentos adquiridos pelos profissionais em sua formação, atualizar conhecimentos e fornecer novas informações, agregando uma aprendizagem significativa com temas presentes na realidade local, de forma a qualificar e aperfeiçoar o processo de trabalho, aumentando a resolutividade e a eficiência do sistema de saúde23
É importante perceber que o gestor não governa sozinho, pois há diversas direções e múltiplos atores que participam do processo de trabalho. Está nas mãos do gestor a tomada de decisões, e estas são influenciadas pelas políticas de saúde do país, do Estado e do próprio serviço de saúde, formadas por diferentes linhas. Segundo Feuerwerker24: “Os serviços de saúde, então, são uma arena em que diversos atores, que se produzem micropoliticamente e têm intencionalidades em suas ações, disputam o sentido geral do trabalho”. Esses planos micropolíticos de fluxo conceitual convergem para um mesmo sentido, embora sejam formados por diferentes atores.
Ademais, a função do gestor se destaca ao unir essas linhas e utilizá-las como subsídio para o seu trabalho e para a formação dos profissionais, analisando o que se faz necessário para o alcance do objetivo. Diz Freire21 em Pedagogia do oprimido: “Aos que constroem juntos o mundo humano, compete assumirem a responsabilidade de dar-lhe direção”. Partindo desse pressuposto, adquiriu-se a capacidade de refletir sobre os desfechos
objetivados e como é possível promover um trabalho em equipe para alcançá-los, pois durante a produção dos webfólios, gerou-se a reflexão do leitor a partir da nossa reflexão, para que fosse facilitado o entendimento do contexto real, institucional e inventivo do aprendizado.
Durante as práticas, os gestores relatavam os princípios da administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, pilares para a formação de um bom gestor. Dessa forma, durante o processo de aprendizagem, foram realizados estímulos reflexivos que nos fizeram pensar fora do senso comum e nos tornar múltiplos. Concordamos com Barros25, que diz: “Perdoai, mas eu preciso ser Outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas”. Assim, percebe-se que a utilização do webfólio serviu para a (trans)formação de uma formação profissional com as competências para a gestão do SUS. Diante disso, identificamos as potencialidades conquistadas nesse processo formativo produzido pelos educandos de farmácia (Figura 1):
Figura 1 – Competências adquiridas pelos educandos de farmácia na disciplina
Práticas em Saúde Coletiva II: Gestão
Interatividade
Humanização
Responsabilidade
Autoconhecimento
Olhar ampliado
Transparência pública
Escuta
Planejamento
Motivação da equipe
Ética profissional Autogestão
Fonte: Elaboração própria.
Entusiasmo
Compromisso
Problemas reais
Proatividade
Reflexão
Criticidade
Criatividade Cooperação
Comunicação
Empatia
Para Batista26 e colaboradores, competência é uma inteligência da prática, perspicaz e criativa, que demanda a utilização de conhecimentos adquiridos, sendo a construção
dessas competências um desafio real. Partindo desse conceito, nota-se que a educação voltada à formação de profissionais para o SUS requer a aquisição de competências que possibilitem uma atuação com qualidade e resolutividade.
Como base na tessitura de uma rede de competências, tem-se a interdisciplinaridade, uma medida educacional que contribui para reduzir a fragmentação do saber, pois envolve diferentes áreas e campos do conhecimento para formar um profissional de vasto conteúdo, sem se prender a uma área específica e desconhecer as demais. Nesse contexto, encontrase a pedagogia rizomática, cuja concepção envolve a compreensão do mundo real e amplo, sem hierarquias27. Assim, dentro de um processo de autorreflexão e compartilhamento de significados que estão enraizados em nossa memória, seguimos concordando com Barros14 quando ele diz: “Até santos davam flor nas pedras, porque todos estávamos abrigados pela palavra”. Sendo assim, percorremos os caminhos na busca do poder da palavra e de uma formação profissional viva, alegre, quente, afetiva, compromissada, responsável e sempre em busca de transformação.
Diante de tudo o que foi relatado, é possível perceber a caminhada para a construção do conhecimento de forma dinâmica e problematizadora, com a utilização de diversas ferramentas de aprendizagem. Barros28 disse em seu livro que “a importância de uma coisa há que ser medida pelo encantamento que a coisa produza em nós”, por isso, o webfólio, como um dispositivo construtivista, se tornou importante por produzir momentos reflexivos e de criticidade que poderão perpetuar na carreira e prática profissional. Foi bastante importante refletir sobre a gestão do SUS a partir dos impactos de uma crise econômica, política e social. As experimentações vivenciadas contribuíram para despertar a motivação necessária para a formação de um perfil profissional humanizado com vistas à integralidade do cuidado.
O webfólio exigiu grande empenho e dedicação dos educandos para buscar o seu próprio conhecimento, ao contrário de métodos em que há somente o repasse do conteúdo pelo professor. Dessa forma, esses dispositivos permitiram o encanto com novas experimentações por meio de uma sociedade em constante mudança. Ao percorrer os caminhos dos serviços em diferentes níveis de atenção, foi possível (re)conhecer o território e construir o olhar ampliado com a percepção macro dos problemas e educar de forma consciente, enquanto a importância do papel social. Por fim, seguiremos em processo de construção e reconstrução na formação de agentes transformadores para o SUS.
1. Concepção do projeto, análise e interpretação dos dados: Mila Silva Cunha, Hudson Manoel Nogueira Campos e Mússio Pirajá Mattos.
2. Redação do artigo e revisão crítica relevante do conteúdo intelectual: Mila Silva Cunha, Hudson Manoel Nogueira Campos e Mússio Pirajá Mattos.
3. Revisão e/ou aprovação final da versão a ser publicada: Mila Silva Cunha, Hudson Manoel Nogueira Campos e Mússio Pirajá Mattos.
4. Ser responsável por todos os aspectos do trabalho na garantia da exatidão e integridade de qualquer parte da obra: Mila Silva Cunha, Hudson Manoel Nogueira Campos e Mússio Pirajá Mattos.
1. Freire P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 25a ed. São Paulo (SP): Paz e Terra; 1996.
2. Berbel NAN. As metodologias ativas e a promoção da autonomia de estudantes. Semina Ciênc Soc Hum. 2011;32(1):25-40.
3. Paiva MRF, Parente JRF, Brandão IR, Queiroz AHB. Metodologias ativas de ensino-aprendizagem: revisão integrativa. Sanare. 2016;15(2):145-53.
4. Vasconcelos YL, Manzi SMS. Processo ensino-aprendizagem e o paradigma construtivista. Interfaces Cient. 2017;5(3):66-74.
5. Periotto MS. Interdisciplinaridade: didática, prática de ensino e direitos humanos? Rev Interdisciplin. 2015;(6);67-70.
6. Sousa IFS, Bastos PRHO. Interdisciplinaridade e formação na área de farmácia. Trab Educ Saúde. 2016;14(1):97-117.
7. Brasil. Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE/CES nº 2, 19 de fevereiro de 2002. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Farmácia. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília (DF); 2002 fev. Seção 1, p. 9.
8. Holliday OJ. Para sistematizar experiências. João Pessoa (PB): Ed. UFPB; 1996.
9. Mattos MP. Viagem educacional e oficinas temáticas como ferramentas de formação construtivista em psicofarmacologia clínica. RECIIS. 2018;12(4):478-88.
10. Mourthé CAJ, Lima VV, Padilha RQ. Integrating emotions and rationalities for the development of competence in active learning methodologies. Interfaces. 2018;22(65):577-88.
11. Lima EMFA, Yasui S. Territórios e sentidos: espaço, cultura, subjetividade e cuidado na atenção psicossocial. Saúde Debate. 2014;38(102):593-606.
12. Alvarenga GM, Araújo ZR. Portfólio: conceitos básicos e indicações para utilização. Est Aval Educ. 2006;17(33):137-48.
13. Freire P. Educação e mudança. São Paulo (SP): Paz e Terra; 1999.
14. Barros M. Menino do mato. São Paulo (SP): Leya; 2010.
15. Brasil. Ministério da Saúde. Política Nacional de Humanização – Humaniza SUS. Brasília (DF); 2013.
16. Barros M. Poesia completa. São Paulo (SP): Leya; 2011.
17. Chiavenato I. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. 4a ed. Barueri (SP): Manole; 2014.
18. Souto TS, Batista SH, Batista NA. A educação interprofissional na formação em psicologia: olhares de estudantes. Psicol Ciênc Prof. 2014;34(1):32-5.
19. Martins CC, Waclawovsky AJ. Problemas e desafios enfrentados pelos gestores públicos no processo de gestão em saúde. Rev Gest Sist Saúde. 2015;4(1):100-9.
20. Fekete MC. A qualidade na prestação do cuidado em saúde. Brasília (DF): Organização Pan-Americana da Saúde; 2000.
21. Freire P. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro (RJ): Paz e Terra; 2013.
22. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 198 de 13 de fevereiro de 2004. Instituição da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. Brasília (DF); 2004.
23. Brasil. Ministério da Saúde. Política Nacional de Educação Permanente em Saúde: o que se tem produzido para o seu fortalecimento? Brasília (DF); 2018.
24. Feuerwerker LCM. Micropolítica e saúde: produção do cuidado, gestão e formação. Porto Alegre (RS): Rede Unida; 2014.
25. Barros M. Retrato do artista quando coisa. Rio de Janeiro (RJ): Record; 1998.
26. Batista RS, Gomes AP, Albuquerque VS, Cavalcanti FOL, Cotta RMM. Educação e competências para o SUS: é possível pensar alternativas à(s) lógica(s) do capitalismo tardio? Ciênc Saúde Colet. 2013;8(1):159-70.
27. Novikoff C, Cavalcanti MAP. Redes de saberes: pensamento interdisciplinar. Cad Pesqui Interdisciplin Ciênc Hum. 2016;17(110):42-51.
28. Barros M. Meu quintal é maior do que o mundo. Rio de Janeiro (RJ): Objetiva; 2015.
Recebido: 29.4.2019. Aprovado: 6.3.2020.
Márcio Lemos Coutinhoa
Celina Sayuri Shiraishib
Eneida Gomes Ferreirac Valdelíria Coelhod
Resumo
O estudo tem como objetivo apresentar a experiência da Secretaria Estadual de Saúde de Sergipe e da Fundação Estadual de Saúde quanto ao processo de implantação de dispositivos de Educação Permanente em Saúde (EPS) para os trabalhadores da Atenção Primária à Saúde (APS) por meio da estratégia denominada “Telessaúde”. A experiência configurou-se na implantação de pontos descentralizados do Telessaúde, contemplando equipes da Estratégia Saúde da Família nas sete regiões de saúde do estado, com cobertura de 98,7% dos municípios. O desenvolvimento do programa se deu a partir de três diretrizes principais: (A) Teleconsultoria; (B) Segunda Opinião Formativa; e (C) Estratégias de Educação a Distância. Paralelamente a essas diretrizes foram desenvolvidas ações de integração entre as instituições de ensino e as Secretarias Municipais e Estadual de Saúde no intuito de fortalecer as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). Destaca-se o Telessaúde como uma ferramenta eficiente para ampliar o acesso dos trabalhadores às ações de educação permanente com vistas à melhoria da assistência em saúde em Sergipe e ao cumprimento dos princípios de universalidade, integralidade, equidade e resolutividade. As diretrizes de formação dos trabalhadores em saúde exigem, portanto, o aprimoramento de suas estratégias tanto na dimensão pedagógica quanto na político-institucional.
Palavras-chave: Educação permanente. Educação. Saúde pública. Educação a distância. Estratégia Saúde da Família.
a Doutorando em Saúde Coletiva pela Universidade Federal da Bahia. Docente do Departamento de Medicina da Universidade Federal de Sergipe, campus Lagarto. Salvador, Bahia, Brasil. E-mail: marcio.eesp@gmail.com
b Enfermeira. Aracaju, Sergipe, Brasil. E-mail: celinasayuri@hotmail.com
c Coordenadora do Telessaúde da Fundação Estadual de Saúde de Sergipe. Aracaju, Sergipe, Brasil. E-mail: eneida. telessaude@gmail.com
d Membro da equipe do Telessaúde da Fundação Estadual de Saúde de Sergipe. Aracaju, Sergipe, Brasil. E-mail: val.telessaude@gmail.com
Endereço para correspondência: Universidade Federal de Sergipe. Av. Governador Marcelo Déda Chagas, n. 13, São José. Aracaju, Sergipe, Brasil. CEP: 49400-000. E-mail: marcio.eesp@gmail.com
Abstract
This is an experience report on the Sergipe Health Secretary Office regarding the implementation process of permanent health education (PHE) devices for primary care workers following the “Telesaude” strategy. The experience consisted in the installation of decentralized “Telesaude” hubs covering Family Health Strategy teams in all 7 regions belonging to the state of Sergipe and reaching 98.7% coverage at the town/district level. The implementation of the program followed three primary strategies: (A) Teleconsultation; (B) Formal Second Opinion, and (C) Long Distance Healthcare Education. In parallel, actions to integrate educational institutions and Health Secretary Offices at the local and state levels were sought to solidify the implementation of SUS principles. “Telesaude” is considered an efficient tool to enhance access of healthcare workers to permanent health education opportunities with the goal of improving healthcare assistance in Sergipe and following the principles of universality, integrality, equity, and resolutivity. Healthcare worker training directives demand enhancement of its strategies in both the educational and political/institutional dimensions.
Keywords: Permanent education. Education. Public health. Remote learning. Family Health Strategy.
EL TELESALUD COMO UNA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN PERMANENTE EN SALUD DE LOS TRABAJADORES DEL SUS
Resumen
El estudio objetiva presentar la experiencia de la Secretaría de Salud del Estado de Sergipe y la Fundación Estadual de Salud en cuanto al proceso de implantación de dispositivos de Educación Permanente en Salud (EPS) para los trabajadores de Atención Primaria de Salud (APS) mediante la estrategia titulada “Telesalud”. La experiencia se caracteriza por la implantación de puntos descentralizados de Telesalud, abarcando equipos de la Estrategia de Salud de la Familia en las siete regiones de salud del estado, en el 98,7% de los municipios. El programa se desarrolló con base en tres ejes principales: (A) Teleconsulta; (B) Segunda Opinión Formativa; y (C) Estrategias de Educación a Distancia. Junto a estos, se desarrollaron acciones de integración entre las instituciones educativas y las Secretarías de Salud Municipal y del Estado con el fin de fortalecer las directrices del Sistema Único de Salud (SUS). El telesalud se destaca como una herramienta eficaz para
ampliar el acceso de los trabajadores a acciones de educación permanente con miras a mejorar la asistencia sanitaria en Sergipe y cumplir con los principios de universalidad, integralidad, equidad y resolubilidad. Las directrices para la formación de los trabajadores de la salud requieren, por tanto, la optimización de sus estrategias tanto en la dimensión pedagógica como en la político-institucional.
Palabras clave: Educación permanente. Educación. Salud pública. Educación a distancia. Estrategia Salud de la Familia.
A área de formação dos trabalhadores ocupa temática estratégica da discussão e na implementação da política de saúde no Brasil há pelo menos três décadas. No contexto da Reforma Sanitária, a Gestão da Educação na Saúde sempre foi pauta importante na organização dos serviços, sendo, inclusive, objeto da 1ª Conferência Nacional de Recursos Humanos, realizada em 1986, ano da histórica 8ª Conferência Nacional de Saúde (CNS) e marco na construção do Sistema Único de Saúde (SUS).
Nesse período, além de questões organizativas e de atribuições do sistema de saúde foram tratados assuntos relativos aos trabalhadores em saúde, apontando para a urgência na adequação das estratégias de formação profissional voltadas para as necessidades postas pela realidade social. De acordo com o relatório produzido à época, o sistema de saúde em implementação exigia a reorientação das políticas de gestão do trabalho e da educação na saúde, demandando também a definição explícita de políticas para o setor. Na sequência, coube à Constituição de 1988 estabelecer que ao SUS, compete ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde1
Entretanto, apenas em 2000, quando foi realizada a 11ª CNS, a Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde ganhou estatuto de política pública para o desenvolvimento da formação no âmbito do SUS, mediante a aplicação dos princípios e das diretrizes para a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos (NOB-RH/SUS) como política nacional. Em 2004, a Política de Educação Permanente em Saúde (PEPS) é instituída no intuito de promover mudanças nos processos de formação e desenvolvimento dos trabalhadores do setor da saúde, com base na problematização da realidade e na construção coletiva de soluções, tendo como foco as necessidades da população e o fortalecimento do SUS2
Em 2007, tendo em vista as mudanças no sistema de gestão na área da saúde com ênfase na descentralização, no fortalecimento das instâncias gestoras e do controle social,
a PEPS é revista no sentido de induzir que os entes federados estaduais e municipais assumissem progressivamente a responsabilidade de criar estruturas de coordenação e execução de ações formativas em âmbito regional e local3
No contexto de ampliação e democratização do acesso a ações formativas, em 2010 o Ministério da Saúde instituiu o Programa Telessaúde Brasil com o objetivo de ampliar a resolubilidade e fortalecer as Equipes de Saúde da Família (ESF), com base na oferta da denominada “segunda opinião formativa” e de outras ações educacionais dirigidas aos diversos profissionais das equipes4
Nesse sentido, estudos têm apontado que a utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) tem produzido modificações nas práticas profissionais e educacionais, proporcionando mudanças organizacionais e acadêmicas por intermédio da “linguagem digital”, que permite informar, comunicar, interagir e aprender numa perspectiva multiprofissional, envolvendo gestão com planejamento sustentável, pesquisa e desenvolvimento de soluções aplicáveis à educação e à saúde5,6.
A busca ou a construção de estratégias que direta ou indiretamente interfiram no processo de formação pode motivar outras estratégias que contribuam para a criação de oportunidades de mudanças na prática profissional – porque pensar o tema “recursos humanos em saúde” coloca o desafio de se construir ferramentas conceituais, teóricas e metodológicas que permitam a sua apreensão, mas, centralmente, a capacidade de identificar, além dos problemas, oportunidades e estratégias para superá-los7
Portanto, este relato tem como objetivo apresentar a experiência de uma secretaria estadual de saúde diante do processo de implantação de dispositivos de EPS para os trabalhadores da atenção primária por meio da estratégia do Telessaúde.
Entende-se, ainda, que o Telessaúde faz parte de uma proposta educacional diferente das capacitações convencionais, uma vez que tem como ponto de partida o processo de trabalho e, como características principais, o protagonismo do trabalhador, a problematização das práticas vigentes e a aprendizagem significativa, orientando-se pela busca constante de melhoria dos serviços de saúde.
A experiência configurou-se na implantação de pontos descentralizados do Telessaúde, contemplando equipes da Estratégia Saúde da Família nas sete regiões de saúde do estado de Sergipe. O desenvolvimento do programa se dá a partir de três diretrizes principais, a saber:
A) Teleconsultoria: consulta registrada e realizada entre trabalhadores, profissionais e gestores da área de saúde, por meio de instrumentos de telecomunicação bidirecional, com o fim de esclarecer dúvidas sobre procedimentos clínicos, ações de saúde e questões relativas ao processo de trabalho […].
B) Segunda Opinião Formativa: resposta sistematizada, construída com base em revisão bibliográfica, nas melhores evidências científicas e clínicas e no papel ordenador da atenção básica à saúde, a perguntas originadas das teleconsultorias, e selecionadas a partir de critérios de relevância e pertinência em relação às diretrizes do SUS, com vistas à ampliação da capacidade resolutiva em casos ou situações semelhantes.8:sp
C) Estratégias de Educação à Distância (EAD) ou tele-educação: é uma forma de ensino que possibilita a aprendizagem, com a mediação humana de recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados, e veiculados pelos diversos meios de comunicação.9:sp
Paralelamente a essas diretrizes são desenvolvidas ações de integração entre as instituições de ensino e as secretarias municipais e estaduais no intuito de fortalecer as diretrizes do SUS por meio da produção e da disseminação de conhecimentos na área.
Esta seção apresenta os principais resultados alcançados pelo programa, contemplando os aspectos detalhados na metodologia (Teleconsultoria, Segunda Opinião Formativa e Estratégias de Educação a Distância) expressando em alguma medida seu grau de desenvolvimento. Considera, portanto, aspectos relativos ao planejamento, à implantação, à execução, ao monitoramento e à avaliação de suas ações no sentido de fornecer subsídios para qualificação dos serviços de APS. Nesse sentido, destacam-se como produtos do Núcleo Telessaúde Sergipe:
1) a implantação de 157 pontos descentralizados nas sete regiões de saúde do estado, com alcance de cobertura de 98,7% dos municípios;
2) a realização de 816 teleconsultorias;
3) a oferta de 24 ações de tele-educação com participação de 8.731 profissionais da Estratégia Saúde da Família;
4) a publicação de 104 Segundas Opiniões Formativas;
5) a realização de 241 oficinas de sensibilização, treinamento e apresentação do programa;
6) a ampliação da capacidade de oferta de ações de EPS por parte do estado e dos municípios; e
7) Fortalecimento dos atributos e diretrizes da APS10 .
Os resultados alcançados expressam em alguma medida o desenvolvimento de dois objetivos centrais do Telessaúde, que seriam o de resolver, em curto prazo, a demanda do solicitante, por meio de uma resposta direta e, de forma indireta e em médio-longo prazo, ajudar a resolver o problema do sistema de saúde por meio de ações formativas e complementares, de maneira a aumentar a resolubilidade dos profissionais.
Embora os instrumentos qualitativos apontem para uma avaliação satisfatória do programa Telessaúde em Sergipe, espera-se um uso mais expressivo da ferramenta, uma vez que a Educação Permanente está prevista e normatizada como parte do processo de trabalho das equipes da APS, inclusive com carga horária definida de até 8 horas semanais11.
Os problemas na infraestrutura, de conectividade e falta de conhecimento de alguns profissionais e gestores são alguns nós críticos do programa que precisam ser problematizados num contexto mais amplo, já que estudos anteriores sobre o tema, ao analisarem a incorporação da EAD como parte da política de formação de trabalhadores do SUS, alertaram para a importância de investigar como essas estratégia nas organizações públicas de saúde se configuram enquanto elementos de inovação ou de mudança organizacional12
Nesse ínterim, cabe questionar em que medida o Telessaúde em Sergipe conseguiu disseminar a compreensão da EAD como uma inovação tecnológica que incide sobre os processos de gestão e de organização do trabalho no âmbito das secretarias municipais como uma estratégia de educação permanente à saúde, complementar à política de gestão do trabalho. Vale destacar, também, a possibilidade das ações de educação permanente provocadas pelo Telessaúde em nível municipal estarem sendo desenvolvidas eventualmente por parte das gestões e equipes, de forma restrita às oficinas de monitoramento.
Nesse sentido, a descontinuidade e a eventualidade das ações educativas não seriam, efetivamente, suficientes para gerar as transformações diante das necessidades sentidas e evidenciadas pelos trabalhadores e pelos usuários dos serviços. A não existência ou a falta de clareza quanto à oferta de propostas educativas poderiam indicar, de algum modo,
o não investimento ou a não valorização da educação enquanto precursora de mudanças no espaço de trabalho.
Por outro lado, de acordo com as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica, o redirecionamento do modelo de atenção à saúde impõe claramente a necessidade de transformação permanente do funcionamento dos serviços e do processo de trabalho das equipes, exigindo de seus atores (trabalhadores, gestores e usuários) maior capacidade de análise, intervenção e autonomia para o estabelecimento de práticas transformadoras e o estreitamento dos elos entre concepção e execução do trabalho11.
Nesse sentido, a educação permanente, além da sua evidente dimensão pedagógica, deve ser encarada também como uma importante estratégia de gestão, com grande potencial provocador de mudanças no cotidiano dos serviços, em sua micropolítica e como um processo que se dá no trabalho, pelo trabalho e para o trabalho11
Por fim, reconhecendo o caráter e a iniciativa ascendente da educação permanente, é central que cada equipe, cada unidade de saúde e cada município demandem, proponham e desenvolvam ações de educação permanente, tentando combinar necessidades e possibilidades singulares com ofertas e processos mais gerais de uma política proposta para todas as equipes e para todo o município.
Portanto, é fundamental sintonizar e mediar as ofertas de educação permanente pré-formatadas em nível estadual com o momento e as particularidades das equipes, para que façam mais sentido e tenham, assim, maior valor de uso e pertinência.
De modo semelhante, é importante a articulação dos governos estaduais e federal junto dos municípios, buscando responder às suas necessidades e fortalecer suas iniciativas por meio de estratégias de apoio institucional e/ou matriciamento. Nesse sentido, caberia ao Telessaúde, enquanto estratégia de EPS, desenvolver ações de apoio, cooperação, qualificação e oferta de iniciativas diversificadas para diferentes contextos.
O ponto central da EPS é, portanto, sua abertura à realidade mutável e mutante das ações e dos serviços de saúde, ou seja, sua ligação política com a formação de perfis profissionais, a introdução de mecanismos, espaços e temas que geram autoanálise, autogestão, implicação e mudança institucional13.
Destaca-se o Telessaúde como uma ferramenta eficiente para ampliar o acesso dos trabalhadores às ações de educação permanente com vistas à melhoria da assistência
em saúde em Sergipe no cumprimento dos princípios de universalidade, integralidade, equidade e resolutividade.
As diretrizes de formação dos trabalhadores em saúde exigem, portanto, o aprimoramento de suas estratégias tanto na dimensão pedagógica quanto na político-institucional, além da conformação de redes de produção, disseminação e troca de conhecimentos.
Entendemos, portanto, o Telessaúde como uma estratégia capaz de constituir redes, ao configurar-se como um conjunto amplo, aberto e inclusivo de agentes, no intuito de capilarizar informação e comunicação, aproximando os profissionais de saúde.
A construção de uma rede, nessa perspectiva, propicia o trabalho cooperativo e a interação entre as experiências individuais e coletivas, fomentando a autonomia e a responsabilização dos profissionais envolvidos, ampliando, assim, seu compromisso e sua participação nos processos14
Essa aproximação, entretanto, não necessita ser presencial, desde que seja efetiva e dirigida a resolver os problemas de integração que impedem que as pessoas – os usuários do SUS – obtenham o cuidado certo, no tempo certo, no lugar certo, com o custo certo e com a qualidade certa, de forma humanizada e com equidade15.
1. Concepção do projeto, análise e interpretação dos dados: Márcio Lemos Coutinho.
2. Redação do artigo e revisão crítica relevante do conteúdo intelectual: Márcio Lemos Coutinho, Celina Sayuri Shiraishi, Eneida Gomes Ferreira e Valdelíria Coelho.
3. Revisão e/ou aprovação final da versão a ser publicada: Márcio Lemos Coutinho.
4. Ser responsável por todos os aspectos do trabalho na garantia da exatidão e integridade de qualquer parte da obra: Márcio Lemos Coutinho.
1. Brasil. Senado Federal. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília (DF); 1988.
2. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 198, de 13 de fevereiro de 2004. Institui a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde como estratégia do Sistema Único de Saúde para a formação e o desenvolvimento de trabalhadores para o setor e dá outras providências. Brasília (DF); 2004.
3. Brasil. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Departamento de Gestão da Educação em Saúde. Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2009.
4. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 402, de 24 de fevereiro de 2010. Institui, em âmbito nacional, o Programa Telessaúde Brasil para apoio à Estratégia de Saúde da Família no SUS, institui o Programa Nacional de Bolsas do Telessaúde Brasil e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília (DF); 2010 fev 25. Seção 1, p. 36.
5. Kenski VM. Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação. Campinas (SP): Papirus; 2007.
6. Wen CL. Telemedicina e Telessaúde: um panorama no Brasil. Inf Pública. 2008;10(2):7-15.
7. Paim JS. Recursos humanos em saúde no Brasil: problemas crônicos e desafios agudos. São Paulo (SP): Edusp; 1994.
8. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.546, de 27 de outubro de 2011. Redefine e amplia o Programa Telessaúde Brasil, que passa a ser denominado Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes (Telessaúde Brasil Redes). Brasília (DF); 2011.
9. Brasil. Ministério da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Manual de Telessaúde para Atenção Básica/Atenção Primária à Saúde/ Ministério da Saúde. Brasília (DF); 2012.
10. Starfield B. Atenção primária: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e tecnologia. Brasília (DF): Unesco; 2002.
11. Brasil. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Básica. Série E. Legislação em Saúde. Brasília (DF); 2012.
12. Paim MC. Projeto EAD SUS/Ba: incorporação do ensino a distância aos processos de educação permanente para profissionais do Sistema Único de Saúde do estado da Bahia. Rev Baiana Saúde Pública. 2012;33(1):104.
13. Ceccim RB. Educação permanente em saúde: desafio ambicioso e necessário. Interface Comun Saúde Educ. 2005;9(16):161-77.
14. Rovere M. Seminário de Planejamento Estratégico da Rede Unida. Salvador (BA): Redes; 1998.
15. Mendes E. As redes de atenção à saúde. 2a ed. Brasília (DF): Organização Pan-Americana da Saúde; 2011.
Recebido: 7.3.2018. Aprovado: 15.6.2020.
A Revista Baiana de Saúde Pública (RBSP), publicação oficial da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), de periodicidade trimestral, publica contribuições sobre aspectos relacionados aos problemas de saúde da população e à organização dos serviços e sistemas de saúde e áreas correlatas. São aceitas para publicação as contribuições escritas preferencialmente em português, de acordo com as normas da RBSP, obedecendo a ordem de aprovação pelos editores. Os trabalhos são avaliados por pares, especialistas nas áreas relacionadas aos temas referidos.
Os manuscritos devem destinar-se exclusivamente à RBSP, não sendo permitida sua apresentação simultânea a outro periódico, tanto no que se refere ao texto como às ilustrações e tabelas, quer na íntegra ou parcialmente. Os artigos publicados serão de propriedade da revista, ficando proibida a reprodução total ou parcial em qualquer meio de divulgação, impresso ou eletrônico, sem a prévia autorização da RBSP. Devem ainda referenciar artigos sobre a temática publicados nesta Revista.
1 Artigos Temáticos: revisão crítica ou resultado de pesquisa de natureza empírica, experimental ou conceitual sobre um assunto em pauta, definido pelo Conselho Editorial (10 a 20 páginas).
2 Artigos Originais de Tema Livre:
2.1 pesquisa: artigos apresentando resultados finais de pesquisas científicas (10 a 20 páginas);
2.2 ensaios: artigos com análise crítica sobre um tema específico (5 a 8 páginas);
2.3 revisão: artigos com revisão crítica de literatura sobre tema específico, solicitados pelos editores (8 a 15 páginas).
3 Comunicações: informes de pesquisas em andamento, programas e relatórios técnicos (5 a 8 páginas).
4 Teses e dissertações: resumos de dissertações de mestrado e teses de doutorado/ livre docência defendidas e aprovadas em universidades brasileiras (máximo 2 páginas). Os resumos devem ser encaminhados com o título oficial da tese/ dissertação, dia e local da defesa, nome do orientador e local disponível para consulta.
5 Resenha de livros: livros publicados sobre temas de interesse, solicitados pelos editores (1 a 4 páginas).
6 Relato de experiência: apresentando experiências inovadoras (8 a 10 páginas).
7 Carta ao editor: comentários sobre material publicado (2 páginas).
8 Documentos: de órgãos oficiais sobre temas relevantes (8 a 10 páginas).
De responsabilidade dos editores, pode também ser redigido por um convidado, mediante solicitação do editor geral (1 a 3 páginas).
ITENS DE VERIFICAÇÃO PARA SUBMISSÃO
Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a conformidade da submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As submissões que não estiverem de acordo com as normas serão devolvidas aos autores.
Os trabalhos a serem apreciados pelos editores e revisores seguirão a ordem de recebimento e deverão obedecer aos seguintes critérios de apresentação:
a) todas as submissões devem ser enviadas por meio do Sistema Eletrônico de Editoração de Revista (SEER). Preenchimento obrigatório dos metadados, sem os quais o artigo não seguirá para avaliação;
b) as páginas do texto devem ser formatadas em espaço 1,5, com margens de 2 cm, fonte Times New Roman, tamanho 12, página padrão A4, numeradas no canto superior direito;
c) os desenhos ou fotografias digitalizadas devem ser encaminhados em arquivos separados;
d) o número máximo de autores por manuscrito científico é de seis (6).
ARTIGOS
Folha de rosto/Metadados: informar o título (com versão em inglês e espanhol), nome(s) do(s) autor(es), principal vinculação institucional de cada autor, órgão(s) financiador(es) e endereço postal e eletrônico de um dos autores para correspondência.
Segunda folha/Metadados: iniciar com o título do trabalho, sem referência a autoria, e acrescentar um resumo de no máximo 200 palavras, com versão em inglês (Abstract) e espanhol (Resumen). Trabalhos em espanhol ou inglês devem também apresentar resumo em português.
Palavras-chave (3 a 5) extraídas do vocabulário DeCS (Descritores em Ciências da Saúde/ www. decs.bvs.br) para os resumos em português e do MESH (Medical Subject Headings/ www.nlm. nih.gov/mesh) para os resumos em inglês.
Terceira folha: título do trabalho sem referência à autoria e início do texto com parágrafos alinhados nas margens direita e esquerda (justificados), observando a sequência: introdução – conter justificativa e citar os objetivos no último parágrafo; material e métodos; resultados, discussão, conclusão ou
considerações finais (opcional) e referências. Digitar em página independente os agradecimentos, quando necessários, e as contribuições individuais de cada autor na elaboração do artigo.
Os resumos devem ser apresentados nas versões português, inglês e espanhol. Devem expor sinteticamente o tema, os objetivos, a metodologia, os principais resultados e as conclusões. Não incluir referências ou informação pessoal.
Obrigatoriamente, os arquivos das ilustrações (quadros, gráficos, fluxogramas, fotografias, organogramas etc.) e tabelas devem ser encaminhados em arquivo independente; suas páginas não devem ser numeradas. Estes arquivos devem ser compatíveis com o processador de texto “Microsoft Word” (formatos: PICT, TIFF, GIF, BMP).
O número de ilustrações e tabelas deve ser o menor possível. As ilustrações coloridas somente serão publicadas se a fonte de financiamento for especificada pelo autor.
Na seção resultados, as ilustrações e tabelas devem ser numeradas com algarismos arábicos, por ordem de aparecimento no texto, e seu tipo e número destacados em negrito (e.g. “[...] na Tabela 2 as medidas [...]).
No corpo das tabelas, não utilizar linhas verticais nem horizontais; os quadros devem ser fechados.
Os títulos das ilustrações e tabelas devem ser objetivos, situar o leitor sobre o conteúdo e informar a abrangência geográfica e temporal dos dados, segundo Normas de Apresentação Tabular do IBGE (e.g.: Gráfico 2 – Número de casos de aids por região geográfica. Brasil – 1986-1997).
Ilustrações e tabelas reproduzidas de outras fontes já publicadas devem indicar esta condição após o título.
Trabalho que resulte de pesquisa envolvendo seres humanos ou outros animais deve vir acompanhado de cópia escaneada de documento que ateste sua aprovação prévia por um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), além da referência na seção Material e Métodos.
Preferencialmente, qualquer tipo de trabalho encaminhado (exceto artigo de revisão) deverá listar até 30 fontes.
As referências no corpo do texto deverão ser numeradas em sobrescrito, consecutivamente, na ordem em que sejam mencionadas a primeira vez no texto.
As notas explicativas são permitidas, desde que em pequeno número, e devem ser ordenadas por letras minúsculas em sobrescrito. As referências devem aparecer no final do trabalho, listadas pela ordem de citação, alinhadas apenas à esquerda da página, seguindo as regras propostas pelo Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas (Requisitos Uniformes para Manuscritos apresentados a periódicos biomédicos/Vancouver), disponíveis em http://www.icmje.org ou http://www.abeceditores.com.br.
Quando os autores forem mais de seis, indicar apenas os seis primeiros, acrescentando a expressão et al.
Exemplos:
a) LIVRO
Acha PN, Szyfres B. Zoonosis y enfermedades transmisibles comunes al hombre y a los animales.
2ª ed. Washington (DC): Organizacion Panamericana de la Salud; 1989.
b) CAPÍTULO DE LIVRO
Almeida JP, Rodriguez TM, Arellano JLP. Exantemas infecciosos infantiles. In: Arellano JLP, Blasco AC, Sánchez MC, García JEL, Rodríguez FM, Álvarez AM, editores. Guía de autoformación en enfermedades infecciosas. Madrid: Panamericana; 1996. p. 1155-68.
c) ARTIGO
Azevêdo ES, Fortuna CMM, Silva KMC, Sousa MGF, Machado MA, Lima AMVMD, et al. Spread and diversity of human populations in Bahia, Brazil. Hum Biol. 1982;54:329-41.
d) TESE E DISSERTAÇÃO
Britto APCR. Infecção pelo HTLV-I/II no estado da Bahia [Dissertação]. Salvador (BA): Universidade Federal da Bahia; 1997.
e) RESUMO PUBLICADO EM ANAIS DE CONGRESSO
Santos-Neto L, Muniz-Junqueira I, Tosta CE. Infecção por Plasmodium vivax não apresenta disfunção endotelial e aumento de fator de necrose tumoral-α (FNT-α) e interleucina-1α (IL-1α). In: Anais do 30º Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Salvador, Bahia; 1994. p. 272.
f) DOCUMENTOS EXTRAÍDOS DE ENDEREÇO DA INTERNET
Comissão de Residência Médica do Hospital Universitário Professor Edgard Santos da Universidade Federal da Bahia. Regimento Interno da Coreme. Extraído de [http://www.hupes. ufba.br/coreme], acesso em [20 de setembro de 2001].
Não incluir nas Referências material não publicado ou informação pessoal. Nestes casos, assinalar no texto: (i) Antunes Filho FF, Costa SD: dados não publicados; ou (ii) Silva JA: comunicação pessoal, 1997. Todavia, se o trabalho citado foi aceito para publicação, incluí-lo entre as referências, citando os registros de identificação necessários (autores, título do trabalho ou livro e periódico ou editora), seguido da expressão latina In press e o ano.
Quando o trabalho encaminhado para publicação tiver a forma de relato de investigação epidemiológica, relato de fato histórico, comunicação, resumo de trabalho final de curso de pós-graduação, relatórios técnicos, resenha bibliográfica e carta ao editor, o(s) autor(es) deve(m) utilizar linguagem objetiva e concisa, com informações introdutórias curtas e precisas, delimitando o problema ou a questão objeto da investigação. Seguir as orientações para referências, ilustrações e tabelas.
As contribuições encaminhadas só serão aceitas para apreciação pelos editores e revisores se atenderem às normas da revista.
Endereço para contato: Revista Baiana de Saúde Pública Centro de Atenção à Saúde (CAS)
Av. Antônio Carlos Magalhães
Parque Bela Vista, Salvador – Bahia – Brasil
CEP 40.301-155
E-mail: rbsp.saude@saude.ba.gov.br
http://rbsp.sesab.ba.gov.br
Endereço para submissão de artigos:
http://rbsp.sesab.ba.gov.br/index.php/rbsp
The Public Health Journal of Bahia (RBSP), a quarterly official publication of the Health Secretariat of the State of Bahia (Sesab), publishes contributions on aspects related to population’s health problems, health system services and related areas. It accepts for publication written contributions, preferably in Portuguese, according to the RBSP standards, following the order of approval by the editors. Peer experts in the areas related to the topics in question evaluate the papers.
The manuscripts must be exclusively destined to RBSP, not being allowed its simultaneous submission to another periodical, neither of texts nor illustrations and charts, in part or as a whole. The published articles belong to the journal. Thus, the copyright of the article is transferred to the Publisher. Therefore, it is strictly forbidden partial or total copy of the article in the mainstream and electronic media without previous authorization from the RBSP. They must also mention articles about the topics published in this Journal.
1 Theme articles: critical review or result from empirical, experimental or conceptual research about a current subject defined by the editorial council (10 to 20 pages).
2 Free theme original articles:
2.1 research: articles presenting final results of scientific researches (10 to 20 pages);
2.2 essays: articles with a critical analysis on a specific topic (5 to 8 pages);
2.3 review: articles with a critical review on literature about a specific topic, requested by the editors (8 to 15 pages).
3 Communications: reports on ongoing research, programs and technical reports (5 to 8 pages).
4 Theses and dissertations: abstracts of master degree’ dissertations and doctorate thesis/ licensure papers defended and approved by Brazilian universities (2 pages maximum). The abstracts must be sent with the official title, day and location of the thesis’ defense, name of the counselor and an available place for reference.
5 Book reviews: Books published about topics of current interest, as requested by the editors (1 to 4 pages).
6 Experiments’ report: presenting innovative experiments (8 to 10 pages).
7 Letter to the editor: comments about published material (2 pages).
8 Documents: of official organization about relevant topics (8 to 10 pages).
The editors are responsible for the editorial, however a guest might also write it if the general editor asks him/her to do it (1 to 3 pages).
As part of the submission process all the authors are supposed to verify the submission guidelines in relation to the items that follow. The submissions that are not in accordance with the rules will be sent back to the authors.
The editors must evaluate the papers and the revisers will follow the order of receipt and shall abide by the following criteria of submission:
a) all the submissions must be made by the publisher online submission system (SEER). The metadata must be filled in. Failure to do so will result in the nonevaluation of the article;
b) the text pages must be formatted in 1.5 spacing, with 2 cm margins, Times New Roman typeface, font size 12, A4 standard page, numbered at top right;
c) drawings and digital pictures will be forwarded in separate files;
d) the maximum number of authors per manuscript is six (6).
Cover sheet/Metadata: inform the title (with an English and Spanish version), name(s) of the author(s), main institutional connection of each author, funding organization(s) and postal and electronic address of one of authors for correspondence.
Second page/Metadata: Start with the paper’s title, without reference to authorship and add an abstract of up to 200 words, followed with English (Abstracts) and Spanish (Resumen) versions. Spanish and English papers must also present an abstract in Portuguese. Keywords (3 to 5) extracted from DeCS (Health Science Descriptors at www.decs.bvs.br) for the abstracts in Portuguese and from MESH (Medical Subject Headings at www.nlm.nih.gov/mesh) for the abstracts in English.
Third page: paper’s title without reference to authorship and beginning of the text with paragraphs aligned to both right and left margins (justified), observing the following sequence: introduction –containing justification and mentioning the objectives in the last paragraph; material and methods; results, discussion, conclusion or final considerations (optional) and references. Type in the acknowledgement on an independent page whenever necessary, and the individual contribution of each author when elaborating the article.
The abstracts must be presented in the Portuguese, English and Spanish versions. They must synthetically expose the topic, objectives, methodology, main results and conclusions. It must not include personal references or information.
The files of the illustrations (charts, graphs, flowcharts, photographs, organization charts etc.) and tables must forcibly be independent; their pages must not be numbered. These files must be compatible with “Microsoft Word” word processor (formats: PICT, TIFF, GIF, BMP).
Colored illustration will only be published if the author specifies the funding source.
On the results section illustrations and tables must be numbered with Arabic numerals, ordered by appearance in the text, and its type and number must be highlighted in bold (e.g. “[...] on Table 2 the measures […]).
On the body of tables use neither vertical nor horizontal lines; the charts must be framed.
The titles of the illustrations and tables must be objective, contextualize the reader about the content and inform the geographical and time scope of the data, according to the Tabular Presentation Norms of IBGE (e.g.: Graph 2 – Number of Aids cases by geographical region. Brazil – 1986-1997).
Illustrations and tables reproduced from already published sources must have this condition informed after the title.
Paper that results from research involving human beings or other animals must be followed by a scanned document, which attests its previous approval by a Research Ethic Committee (REC), in addition to the reference at the Material and Methods Section.
Preferably, any kind of paper sent (except review article) must list up to 30 sources.
The references in the body of the text must be consecutively numbered in superscript, in the order that they are mentioned for the first time.
Explanatory notes are allowed, provided that in small number and low case letters in superscript must order them.
References must appear at the end of the work, listed by order of appearance, aligned only to the left of the page, following the rules proposed by the International Committee of Medical Journal Editors (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals/ Vancouver), available at http://www.icmje.org or http://www.abec-editores.com.br.
When there are more than six authors, indicate only the first six, adding the expression et al.
Examples:
a) BOOK
Acha PN, Szyfres B. Zoonosis y enfermedades transmisibles comunes al hombre y a los animales. 2ª ed. Washington (DC): Organizacion Panamericana de la Salud; 1989.
b) BOOK CHAPTER
Almeida JP, Rodriguez TM, Arellano JLP. Exantemas infecciosos infantiles. In: Arellano JLP, Blasco AC, Sánchez MC, García JEL, Rodríguez FM, Álvarez AM, editores. Guía de autoformación en enfermedades infecciosas. Madrid: Panamericana; 1996. p. 1155-68.
c) ARTICLE
Azevêdo ES, Fortuna CMM, Silva KMC, Sousa MGF, Machado MA, Lima AMVMD, et al. Spread and diversity of human populations in Bahia, Brazil. Hum Biol. 1982;54:329-41.
d) THESIS AND DISSERTATION
Britto APCR. Infecção pelo HTLV-I/II no estado da Bahia [Dissertação]. Salvador (BA): Universidade Federal da Bahia; 1997.
e) ABSTRACT PUBLISHED IN CONFERENCE ANNALS
Santos-Neto L, Muniz-Junqueira I, Tosta CE. Infecção por Plasmodium vivax não apresenta disfunção endotelial e aumento de fator de necrose tumoral-α (FNT-α) e interleucina-1α (IL-α). In: Anais do 30º Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Salvador, Bahia; 1994. p. 272.
f) DOCUMENTS OBTAINED FROM INTERNET ADDRESS
Comissão de Residência Médica do Hospital Universitário Professor Edgard Santos da Universidade Federal da Bahia. Regimento Interno da Coreme. Extraído de [http://www. hupes. ufba.br/coreme], acesso em [20 de setembro de 2001].
Do not include unpublished material or personal information in the References. In such cases, indicate it in the text: (i) Antunes Filho FF, Costa SD: unpublished data; or Silva JA: personal communication, 1997. However, if the mentioned material was accepted for publication,
include it in the references, mentioning the required identification entries (authors, title of the paper or book and periodical or editor), followed by the Latin expression In press, and the year.
When the paper directed to publication have the format of an epidemiological research report, historical fact report, communication, abstract of post-graduate studies’ final paper, technical report, bibliographic report and letter to the editor, the author(s) must use a direct and concise language, with short and precise introductory information, limiting the problem or issue object of the research. Follow the guidelines for the references, illustrations and tables.
The editors and reviewers will only accept the contribution sent for evaluation if they comply with the standards of the journal.
Contact us
Address:
Centro de Atenção à Saúde (CAS)
Av. Antônio Carlos Magalhães
Parque Bela Vista, Salvador – Bahia – Brasil
CEP 40.301-155
E-mail: rbsp.saude@saude.ba.gov.br
http://rbsp.sesab.ba.gov.br
To submit an article access: http://rbsp.sesab.ba.gov.br/index.php/rbsp
La Revista Baiana de Salud Pública (RBSP), publicación oficial de la Secretaria de la Salud del Estado de la Bahia (Sesab), de periodicidad trimestral, publica contribuciones sobre aspectos relacionados a los problemas de salud de la población y a la organización de los servicios y sistemas de salud y áreas correlatas. Son aceptas para publicación las contribuciones escritas preferencialmente en portugués, de acuerdo con las normas de la RBSP, obedeciendo la orden de aprobación por los editores. Los trabajos son evaluados por pares, especialistas en las áreas relacionadas a los temas referidos.
Los manuscritos deben destinarse exclusivamente a la RBSP, no siendo permitida su presentación simultánea a otro periódico, tanto en lo que se refiere al texto como a las ilustraciones y tablas, sea en la íntegra o parcialmente. Los artículos publicados serán de propiedad de la revista, quedando prohibida la reproducción total o parcial en cualquier soporte (impreso o electrónico), sin la previa autorización de la RBSP. Deben, también, hacer referencia a artículos sobre la temática publicados en esta Revista.
1 Artículos Temáticos: revisión crítica o resultado de investigación de naturaleza empírica, experimental o conceptual sobre un asunto en pauta, definido por el Consejo Editorial (10 a 20 hojas).
2 Artículos originales de tema libre:
2.1 investigación: artículos presentando resultados finales de investigaciones científicas (10 a 20 hojas);
2.2 ensayos: artículos con análisis crítica sobre un tema específico (5 a 8 hojas);
2.3 revisión: artículos con revisión crítica de literatura sobre tema específico, solicitados por los editores (8 a 15 hojas).
3 Comunicaciones: informes de investigaciones en andamiento, programas e informes técnicos (5 a 8 hojas).
4 Tesis y disertaciones: resúmenes de tesis de maestría y tesis de doctorado/ libre docencia defendidas y aprobadas en universidades brasileñas (máximo 2 hojas). Los resúmenes deben ser encaminados con el título oficial de la tesis, día y local de la defensa, nombre del orientador y local disponible para consulta.
5 Reseña de libros: libros publicados sobre temas de interés, solicitados por los editores (1 a 4 hojas).
6 Relato de experiencias: presentando experiencias innovadoras (8 a 10 hojas).
7 Carta al editor: comentarios sobre material publicado (2 hojas).
8 Documentos: de organismos oficiales sobre temas relevantes (8 a 10 hojas).
De responsabilidad de los editores, también puede ser redactado por un invitado, mediante solicitación del editor general (1 a 3 páginas).
ITEM DE VERIFICACIÓN PARA SUMISIÓN
Como parte del proceso de sumisión, los autores son obligados a verificar la conformidad de la sumisión en relación a todos los item descritos a seguir. Las sumisiones que no estén de acuerdo con las normas serán devueltas a los autores.
Los trabajos apreciados por los editores y revisores seguirán la orden de recibimiento y deberán obedecer a los siguientes criterios de presentación:
a) todos los trabajos deben ser enviados a través del Sistema de Publicación Electrónica de Revista (SEER). Completar obligatoriamente los metadatos, sin los cuales el artículo no será encaminado para evaluación;
b) las páginas deben ser formateadas en espacio 1,5, con márgenes de 2 cm, fuente Times New Roman, tamaño 12, página patrón A4, numeradas en el lado superior derecho;
c) los diseños o fotografías digitalizadas serán encaminadas en archivos separados;
d) el número máximo de autores por manuscrito científico es de seis (6).
Página de capa/Metadatos: informar el título (con versión en inglés y español), nombre(s) del(los) autor(es), principal vinculación institucional de cada autor, órgano(s) financiador(es) y dirección postal y electrónica de uno de los autores para correspondencia.
Segunda página/Metadatos: iniciada con el título del trabajo, sin referencia a la autoría, y agregar un resumen de 200 palabras como máximo, con versión en inglés (Abstract) y español (Resumen). Trabajos en español o inglés deben también presentar resumen en portugués. Palabras clave (3 a 5) extraídas del vocabulario DeCS (Descritores en Ciências da Saúde/ www. decs.bvs.br) para los resúmenes en portugués y del MESH (Medical Subject Headings/ www. nlm.nih.gov/mesh) para los resúmenes en inglés.
Tercera página: título del trabajo sin referencia a la autoría e inicio del texto con parágrafos alineados en las márgenes derecha e izquierda (justificados), observando la secuencia: introducción – contener justificativa y citar los objetivos en el último parágrafo; material y métodos; resultados, discusión, conclusión o consideraciones finales (opcional) y referencias. Digitar en página independiente los agradecimientos, cuando sean necesarios, y las contribuciones individuales de cada autor en la elaboración del artículo.
Los resúmenes deben ser presentados en las versiones portugués, inglés y español. Deben exponer sintéticamente el tema, los objetivos, la metodología, los principales resultados y las conclusiones. No incluir referencias o información personal.
Obligatoriamente, los archivos de las ilustraciones (cuadros, gráficos, diagrama de flujo, fotografías, organigramas etc.) y tablas deben ser independientes; sus páginas no deben ser numeradas. Estos archivos deben ser compatibles con el procesador de texto “Microsoft Word” (formatos: PICT, TIFF, GIF, BMP).
El número de ilustraciones y tablas debe ser el menor posible. Las ilustraciones coloridas solamente serán publicadas si la fuente de financiamiento sea especificada por el autor.
En la sección de resultados, las ilustraciones y tablas deben ser enumeradas con numeración arábiga, por orden de aparecimiento en el texto, y su tipo y número destacados en negrita (e.g. “[...] en la Tabla 2 las medidas [...]).
En el cuerpo de las tablas, no utilizar líneas verticales ni horizontales; los cuadros deben estar cerrados.
Los títulos de las ilustraciones y tablas deben ser objetivos, situar al lector sobre el contenido e informar el alcance geográfico y temporal de los datos, según Normas de Presentación de Tablas del IBGE (e.g.: Gráfico 2 – Número de casos de SIDA por región geográfica. Brasil – 1986-1997).
Ilustraciones y tablas reproducidas de otras fuentes ya publicadas deben indicar esta condición después del título.
Trabajo resultado de investigación envolviendo seres humanos u otros animales debe venir acompañado con copia escaneada de documento que certifique su aprobación previa por un Comité de Ética en Investigación (CEP), además de la referencia en la sección Material y Métodos.
REFERENCIAS
Preferencialmente, cualquier tipo de trabajo encaminado (excepto artículo de revisión) deberá listar un máximo de 30 fuentes.
Las referencias en el cuerpo del texto deberán ser enumeradas en sobrescrito, consecutivamente, en el orden en que sean mencionadas la primera vez en el texto.
Las notas explicativas son permitidas, desde que en pequeño número, y deben ser ordenadas por letras minúsculas en sobrescrito.
Las referencias deben aparecer al final del trabajo, listadas en orden de citación, alineadas apenas a la izquierda de la página, siguiendo las reglas propuestas por el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas (Requisitos uniformes para manuscritos presentados a periódicos biomédicos/ Vancouver), disponibles en http://www.icmje.org o http://www.abeceditores. com.br.
Cuando los autores sean más de seis, indicar apenas los seis primeros, añadiendo la expresión et al.
Ejemplos:
a) LIBRO
Acha PN, Szyfres B. Zoonosis y enfermedades transmisibles comunes al hombre y a los animales.
2ª ed. Washington (DC): Organización Panamericana de la Salud; 1989.
b) CAPÍTULO DE LIBRO
Almeida JP, Rodriguez TM, Arellano JLP. Exantemas infecciosos infantiles. In: Arellano JLP, Blasco AC, Sánchez MC, García JEL, Rodríguez FM, Álvarez AM, editores. Guía de autoformación en enfermedades infecciosas. Madrid: Panamericana; 1996. p. 1155-68.
c) ARTÍCULO
Azevêdo ES, Fortuna CMM, Silva KMC, Sousa MGF, Machado MA, Lima AMVMD, et al. Spread and diversity of human populations in Bahia, Brazil. Hum Biol. 1982;54:329-41.
d) TESIS Y DISERTACIÓN
Britto APCR. Infecção pelo HTLV-I/II no estado da Bahia [Dissertação]. Salvador (BA): Universidade Federal da Bahia; 1997.
e) RESUMEN PUBLICADO EN ANALES DE CONGRESO
Santos-Neto L, Muniz-Junqueira I, Tosta CE. Infecção por Plasmodium vivax não apresenta disfunção endotelial e aumento de fator de necrose tumoral-α (FNT-α) e interleucina-1α (IL-1α). In: Anais do 30º Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Salvador, Bahia; 1994. p. 272.
f) DOCUMENTOS EXTRAIDOS DE SITIOS DE LA INTERNET
Comissão de Residência Médica do Hospital Universitário Professor Edgard Santos da Universidade Federal da Bahia. Regimento Interno da Coreme. Extraído de [http://www.hupes. ufba.br/coreme], acesso em [20 de setembro de 2001].
No incluir en las Referencias material no publicado o información personal. En estos casos, indicar en el texto: (i) Antunes Filho FF, Costa SD: datos no publicados; o (ii) Silva JA: comunicación personal, 1997. Sin embargo, si el trabajo citado es acepto para publicación, incluirlo entre las referencias, citando los registros de identificación necesarios (autores, título del trabajo o libro y periódico o editora), seguido de la expresión latina In press y el año.
Cuando el trabajo encaminado para publicación tenga la forma de relato de investigación epidemiológica, relato de hecho histórico, comunicación, resumen de trabajo final de curso de postgraduación, informes técnicos, reseña bibliográfica y carta al editor, el(los) autor(es) debe(n) utilizar lenguaje objetiva y concisa, con informaciones introductorias cortas y precisas, delimitando el problema o la cuestión objeto de la investigación. Seguir las orientaciones para referencias, ilustraciones y tablas.
Las contribuciones encaminadas a los editores y revisores, solo serán aceptadas para apreciación si atienden las normas de la revista.
Dirección para contacto:
Revista Baiana de Saúde Pública Centro de Atenção à Saúde (CAS)
Av. Antônio Carlos Magalhães
Parque Bela Vista, Salvador – Bahia – Brasil
CEP 40.301-155
E-mail: rbsp.saude@saude.ba.gov.br
http://rbsp.sesab.ba.gov.br
Dirección para envío de artículos: http://rbsp.sesab.ba.gov.br/index.php/rbsp
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA – SESAB
REVISTA BAIANA DE SAÚDE PÚBLICA – RBSP
Centro de Atenção à Saúde (CAS) – Av. Antônio Carlos Magalhães
Parque Bela Vista, Salvador – Bahia – Brasil CEP 40.301-155
E-mail: rbsp.saude@saude.ba.gov.br
http://rbsp.sesab.ba.gov.br
Recebemos e agradecemos | Nous avons reçu | We have received
Desejamos receber | Il nous manque | We are in want of
Enviamos em troca | Nou envoyons en enchange | We send you in exchange
Favor devolver este formulário para assegurar a remessa das próximas publicações. Please fill blank and retourn it to us in order to assure the receiving of the next issues. On prie da dévolution de ce formulaire pour étre assuré l’envoi des prochaines publications.


ARTIGO ORIGINAL DE TEMA LIVRE

MORTALIDADE E ACOMPANHAMENTO DO DIABETES E DA HIPERTENSÃO NA ATENÇÃO BÁSICA DE UM MUNICÍPIO DO NORDESTE BRASILEIRO AUTOMEDICAÇÃO POR IDOSOS USUÁRIOS DE PLANO DE SAÚDE SUPLEMENTAR “AMONG DEAD AND WOUNDED”: MAPPING, CHARACTERIZATION AND ANALYSIS OF FIRES WITH VICTIMS IN RECIFE’S METROPOLITAN ZONE
ALEITAMENTO MATERNO COMPLEMENTADO E FATORES ASSOCIADOS: COORTE DE NASCIMENTO BRISA HOSPITALIZAÇÕES POR LESÕES AUTOPROVOCADAS INTENCIONALMENTE NA BAHIA, BRASIL PROCESSO DE TRABALHO DO ENFERMEIRO NA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA O PROFISSIONAL DE PSICOLOGIA NA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL: O PAPEL DO PSICÓLOGO NA ESF SERIOUS GAME NA PROMOÇÃO DA SAÚDE PARA ESCOLARES: UMA PESQUISA-AÇÃODE EDUCAÇÃO ALIMENTAR CUIDADO EM SAÚDE MENTAL NO CONTEXTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: CONTRIBUIÇÕES DA ENFERMAGEM LESÕES BUCAIS DECORRENTES DO USO DE PRÓTESES DENTÁRIAS REMOVÍVEIS CARACTERIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE NO ESTADO DO PARANÁ FLUORETAÇÃO DA ÁGUA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO: PRODUÇÃO E DISPONIBILIDADE DAS INFORMAÇÕES EM QUESTÃO ANÁLISE DE INTERCORRÊNCIAS DA CAPACIDADE FUNCIONAL E FUNÇÃO COGNITIVA DE IDOSOS, MANAUS (AM): UM ESTUDO DE CASO CONDIÇÕES DE VIDA, SAÚDE E MORBIDADE DE COMUNIDADES QUILOMBOLAS DO SEMIÁRIDO BAIANO, BRASIL
ARTIGO DE REVISÃO
FORMAÇÃO EM NUTRIÇÃO NO BRASIL: ANÁLISE DE ALCANCES E LIMITES A PARTIR DE UMA REVISÃO DA LITERATURA
ENSAIO
O ENSINO SOBRE HANSENÍASE NA GRADUAÇÃO EM SAÚDE: LIMITES E DESAFIOS RELATO DE EXPERIÊNCIA PRÁTICA INTERPROFISSIONAL COLABORATIVA EM SAÚDE COLETIVA À LUZ DE PROCESSOS EDUCACIONAIS INOVADORES A FORMAÇÃO CONSTRUTIVISTA DE EDUCANDOS DE FARMÁCIA NA GESTÃO DO SUS: ABORDAGENS E CONTRIBUIÇÕES PARA AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM O TELESSAÚDE COMO ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE DOS TRABALHADORES DO SUS