





Título: OsmusikéCadernos 6
Diretor: Jorge do Nascimento Silva
Equipa Redatorial: Jorge do Nascimento Silva, Agostinho Ferreira, Álvaro Nunes, João S. Pereira, J. Salgado Almeida
Conceção gráfica: João Silva Pereira, J Salgado Almeida, Jorge do Nascimento Silva, Agostinho Ferreira, Álvaro Nunes
Capa: J. Salgado Almeida
Revisão: Agostinho Ferreira, Álvaro Nunes, Jorge do Nascimento Silva, João Silva Pereira
Ilustrações: J. Salgado Almeida
Local de edição: Guimarães
Propriedade e edição: Osmusiké, osmusike@gmail.com - www.osmusike.pt
Escola Secundária Francisco de Holanda, Alameda Dr. Alfredo Pimenta, 4814-528 Guimarães
Ano e mês: 2024, dezembro
Páginas: 636
ISSN: 2975-8041
Depósito legal: 479669/21
Execução Gráfica: Gráfica Diário do Minho
Coprodução: Município de Guimarães
Notas: 1 - Todos os artigos que integram OsmusikéCadernos 6 são da responsabilidade dos respetivos autores;
2 - Respeitando a opção de cada um, apresenta-se a ortografia portuguesa com ou sem o acordo ortográfico;
3 - Quando os textos estão assinados com afiliação profissional, os cargos referem-se à data em que os mesmos foram escritos.

há cem anos
redatorial
António Magalhães - “O construtor da Guimarães cosmopolita”
24 anos Presidente da Câmara Municipal de Guimarães (1990-2013)
Raul Rocha
Filipe Fontes
Subsídios para a história da 1.ª medalha olímpica portuguesa
- Guimarães no passado, Guimarães no presente
Henrique Pereira de Moraes
Do Corpo de Scouts Católicos Portugueses ao Corpo Nacional de Scouts - A fundação do Escutismo
Carlos A. Ribeiro, Diretor Executivo do Laboratório da Paisagem
Os fornos de olaria voltam a aquecer a alma da Cruz de Pedra
Novo Polo do Cindor, centro de formação de ourivesaria e relojoaria avança em Guimarães
Centro de Formação Cindor

Carlos Manuel Leite Ribeiro de Sousa Eduardo Manuel de Almeida Júnior: “Vida e morte de um homem bom de Guimarães”
Vida e Obra de Bernardo Valentim Moreira de Sá (1853-1924)

João Soares
Salgado
Poetisa d’Arosa, Amélia Fernandes



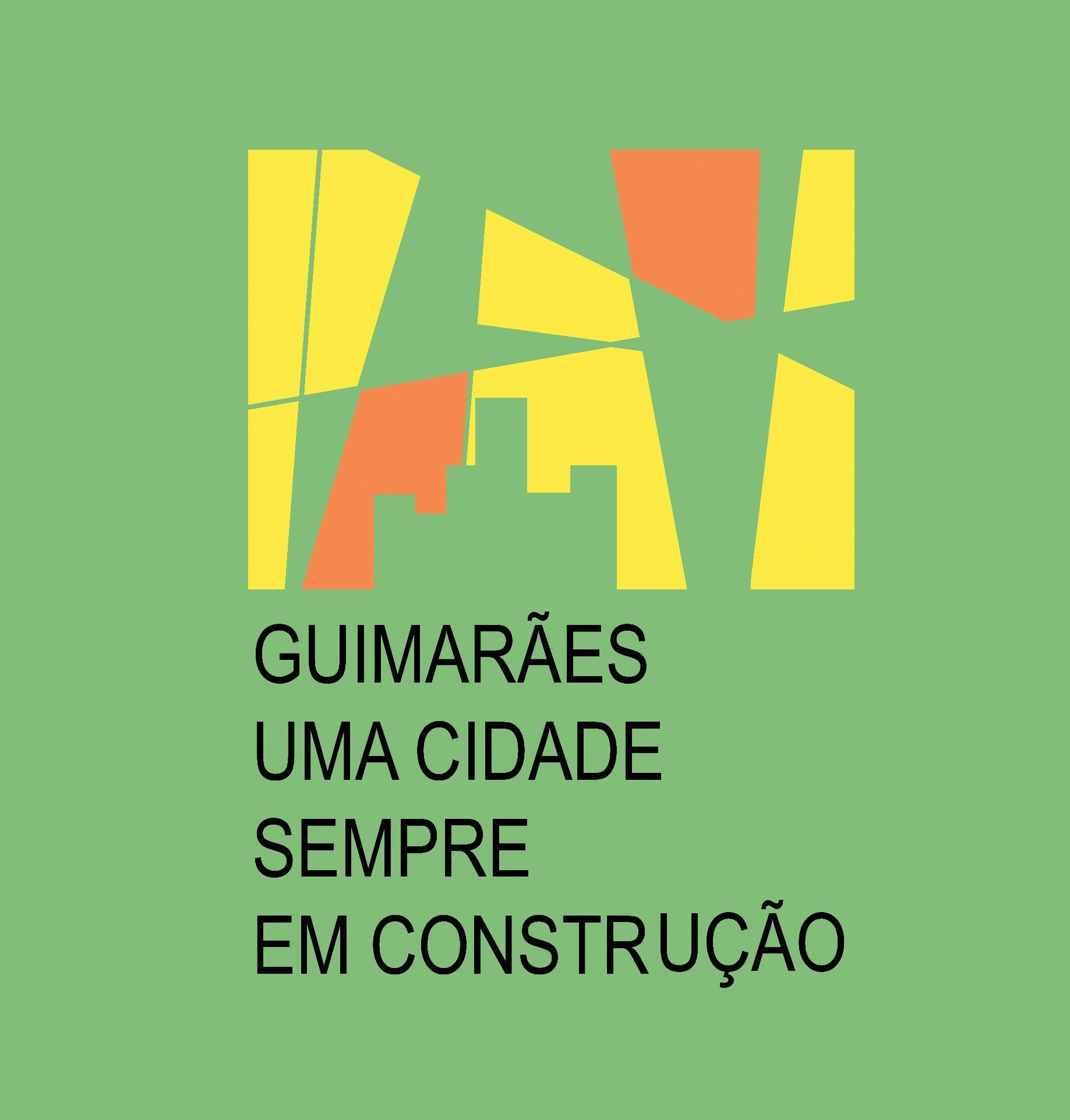

Guimarães: uma cidade sempre em construção
Guimarães há cem anos e as recordações do Euro 2004, evento ocorrido 20 anos atrás, são, entre outras, algumas marcas de uma cidade sempre em construção ao longo dos séculos, que, além do passado, focarão algumas construções do nosso presente, quer nas suas ocorrências diversas, quer pelo trabalho de nossa gente de mérito.
Com efeito, recordações de tempos passados e/ou ocorrências atuais, que nos levam a soprar velas de aniversário por várias associações e instituições vimaranenses, como a Universidade do Minho, o escutismo local e várias outras coletividades e entidades locais, bem como vivenciar acontecimentos do burgo que permitem manter de pé a nossa identidade coletiva, entre os quais a recuperação da Torre da Alfândega e dos Fornos da Cruz de Pedra.
Mas, 2024 é ainda no presente a data de grandes acontecimentos desportivos internacionais, como a XXXIII Olimpíada, com a realização dos Jogos Olímpicos de Paris, bem como o Europeu de Futebol na Alemanha, efemérides às quais certamente a cidade estará atenta. Eventos que, obviamente, proporcionarão ensejo a lembrar os nossos olímpicos e paralímpicos que deixaram a sua marca no desporto nacional, desde a conquista da primeira medalha olímpica portuguesa, em Paris, na modalidade de hipismo, faz precisamente 100 anos.

Guimarães há cem anos Equipa redatorial
Entre os acontecimentos costumeiros e outros menos habituais, ou até insólitos, a urbe e o povo vimaranense viveu o ano de 1924 com algumas dificuldades, inerentes aos problemas da época da I República.
Com efeito, nesse 1924, ano de nascimento de Mário Soares e da morte de Teófilo Braga e Gago Coutinho, desaparecido em voo no Mar do Norte, o país passaria por um período de instabilidade política, bem patente na posse de 3 governos diferentes durante o ano e uma situação económica e financeira complicada. Igualmente, um ano de algumas transformações nos estilos de vida. Efetivamente é nesta altura que se populariza o pijama em detrimento das camisas de dormir e as senhoras trocam os espartilhos pelos sutiãs, enquanto as saias sobem q.b. e os decotes aumentam, aspetos a que o Pregão Nicolino de 1924, de autoria do Padre Gaspar Roriz, não deixa de apontar o dedo:
“Alunas do Liceu, ó Mocidade em flor
Que connosco viveis a estudar e a sorrir, Não obedeçam, não, da Lísbia ao tal reitor: alunas do Liceu, oh! ide-vos vestir…
Deixai a saia curta e os braços desnudados deixai o pó-de-arroz e o rubro do carmim, oh! não quereis, oh! não, vestidos decotados
Quereis um figurino? Olhai, olhai para mim… ”
Mas um tempo em que começam também os concursos de beleza, aumentam os divórcios e diminuem os casamentos e ocorrem os I Jogos Olímpicos de Inverno em Chamonix. Um ano em que Portugal conquista também a primeira medalha na 8.ª edição dos Jogos Olímpicos, em Paris: uma medalha de bronze obtida pela seleção portuguesa de hipismo.
Um ano que, a nível internacional, fica ainda marcado pela morte de Lenine e dos escritores Franz Kafka e Joseph Conrad.
Mas voltemos a Guimarães neste ano da República, em 1924.

1. Há petróleo em Guimarães
De facto, em matéria de ocorrências anómalas, há cem anos, correu em Guimarães a inusitada notícia da existência duma nascente de petróleo no Toural, ali na Porta da Vila!
O Comércio de Guimarães de 15 de agosto de 1924, assim o noticia:
“Na quarta-feira passada os pedreiros, pelas 9 horas da manhã, quebraram um enorme rochedo ali existente, acto contínuo, um líquido que pela sua cor, e cheiro, nos faz supor tratar-se duma nascente ou veio de petróleo.
Muitas pessoas envolveram trapos no líquido, chegando-lhe fogo, ardendo esplendidamente.
Houve também quem o lançasse em candeeiros e garantem-nos que arde bem.

Banco do Minho - Esquina do Toural, Porta da Vila e Rua de Santo António. Foto Beleza. Fundo Museu de Alberto Sampaio. Fonte: arquiva.culturanorte.gov.pt
Que será? Foi uma constante romaria para presenciar o caso, sendo assunto obrigatório de todas as conversas.
Foram retiradas amostras para proceder a análises, ficando suspensas as obras.
Correm várias versões, mas a todos nos cumpre aguardar que não se devem fazer esperar”.
Dois meses depois, o dono da obra, a gerência do Banco do Minho, que ali instalava uma agência, pedia autorização para “proceder à pesquisa da mina de petróleo que há tempos apareceu em Guimarães”, naquele mesmo espaço em que antigamente passava a muralha e outrora se instalara o botequim do Fernandes e Café da Vila.
Porém, as obras acabariam por prosseguir e do dito cujo, nada!
Por isso, subsistiriam as interrogações que o citado Pregão Nicolino de 1924 insinuaria:
“Sumiram-se na terra as águas cristalinas? Rompeu-se, por acaso, a canalização?

Ou houve alguém que fez, na terra do bom vinho, da água oh! que horror! da água monopólio? Há açambarcador?! És tu, Banco do Minho, que nos levas a água e as minas de petróleo?
O petróleo, oh! sim!... e não bastava isto: no cofre forte achaste oh! grande, imensa sorte! do petróleo ao pé a água que, pelo visto, não é água vulgar, mas antes... água forte…”
Pelo sim ou pelo não, seria instalada, no Toural, próximo do cruzamento com a Rua D. João, uma bomba

Toural_gasolinaWeb_Automóvel sendo abastecido na bomba do Vinagreiro._AANeves in AANeves, O Toural em imagens - Detalhes (1)António Amaro das Neves-Maio 16, 2011

PTRMGMRCFM0324. Rua Paio Galvão vista do Toural, em destaque a bomba do Vinagreiro. Entre 1928 e 1932. Toural, Guimarães.

de gasolina da Auto-Gazo. Era a bomba do Vinagreiro1 .
2. Foram-se as letras
Com efeito, os pregões nicolinos constituem um precioso documento anual dos tempos passados, que nos facultam acontecimentos e críticas dos tempos idos. Esta passagem do citado Pregão de 1924 é dilucidativa de outro problema dessa época: a extinção do secundário, na opção de Letras:
“Querem levar-nos tudo!… Avaros e forretas, nem poupam o Liceu. Que negra e triste vida!
Tiram-me o sexto e o sétimo de letras:
Ficámos com um liceu de via reduzida…” (…)
Efetivamente, em setembro de 1924, a edilidade republicana, sob a presidência de Mariano Felgueiras, não conseguiu evitar o encerramento do curso complementar de letras, no liceu vimaranense, situação que indignou as elites locais. Realmente, segundo o Governo da época, entendia-se que os cursos complementares constituiriam atribuições e competências das regiões, em matéria de custos, ainda que os liceus das capitais de distrito continuassem a ser assumidos pelas Juntas Distritais, sustentadas com receitas de todos os concelhos do distrito.
Mariano Felgueiras, em entrevista ao jornal republicano “A Razão”, explicaria a questão e reivindicaria: “Fizemos um grande esforço para não ser extinguido o curso de ciências e ter sido só o de letras. Só estão a ser restabelecidos cursos com encargos para os Municípios. A Câmara de Guimarães não pode. Mas exigimos que a Junta do distrito assuma os encargos, como sucede com o liceu de Braga (…) Foi feito um apelo aos procuradores oriundos de Guimarães, Famalicão, Fafe, Cabeceiras, Celorico, para que seja votada uma verba igual à de Braga: 30 contos”.
Debalde, porém, e Guimarães perderia a batalha, situação que, no ano seguinte, levaria à renovação da lista dos procuradores à Junta Distrital.
1 “Nas décadas de 1920 e 1930, havia no Toural, do lado poente, perto da rua de D. João, uma bomba de gasolina da Auto-Gazo, que era a distribuidora de combustível para automóveis daquele tempo. Era a bomba do Vinagreiro. Em 1940 foi colocada no centro do Toural uma outra bomba de gasolina, que foi retirada em 1955, dando lugar a um polícia-sinaleiro. No Toural esteve instalado outro posto de abastecimento de combustível, em frente ao Café Mourão. Era da BP e foi mandado retirar em 1966. ”O Toural em imagens - Detalhes (1) António Amaro das Neves-Maio 16, 2011

Porém, no final do ano, concretamente a 9 de dezembro de 1924, o decreto n.º 10:37 1 decretaria que à Câmara Municipal de Guimarães “sejam cedidos, a título definitivo, para nele continuarem instalados o Liceu Nacional Martins Sarmento e o Internato Municipal para estudantes menores, todo o edifício do suprimido convento de Santa Clara”.

3. O Campo José Minotes
Mas várias outras ocorrências marcariam o ano republicano de 1924.
Por exemplo, nas nossas bandas, data de janeiro desse ano a inauguração do campo José Minotes, o PTRMGMRCFM1409. Convento de Santa Clara (grupo de estudantes). Décadas de 1940-1950.

primeiro campo vitoriano, situado junto ao Campo Santo (cemitério), local onde atualmente se instala a AMAVE. Um espaço que resultaria da reutilização dos terrenos do hipódromo anteriormente existente, que fora construído para o concurso hípico das Festas Gualterianas do ano precedente, mas que seria utilizado por pouco tempo.
O Jornal monárquico “Ecos de Guimarães”, na sua edição de 3 de fevereiro, relata esse jogo inaugural: “Realizou-se no domingo a inauguração do campo José Minotes com um match de futebol entre o Sporting de Braga e o Vitória Sport Club, vencendo o primeiro por 4-0.
O árbitro, sr. Alfredo Malheiro, deu sinal para alinhar os grupos, dando em seguida o shoot de saída a Sr.ª D. Júlia Jordão.
O jogo começou com o domínio do Sporting devido ao grupo Vimaranense abusar do jogo individual.
No segundo tempo, notou-se um ligeiro domínio do Vitória não conseguindo marcar devido à falta de remate”.

Em setembro de 1924, ocorreu ainda uma Assembleia Geral do Vitória, curiosa pelo seu teor, que a crónica desportiva do jornal republicado “A Razão”, de 28 de setembro documenta.
Ora, entre outras deliberações, especifica-se a realização, na Penha, no domingo seguinte, de um jantar de confraternização para comemorar o 2.º aniversário da fundação do Vitória Sport Clube, situação que põe em causa a data institucional de 22 setembro de 1922.


Nessa altura, seria ainda eleita uma nova direção sob a presidência de Afonso da Costa Guimarães, a empossar no dia 30 de setembro no salão nobre da Associação dos Empregados do Comércio, que teria como restantes membros diretivos o Tenente Carlos Coelho na vice-presidência, os secretários Luís Filipe Coelho e Amadeu Carvalho, coadjuvados na tesouraria por Domingos Magalhães e apoiados pelos vogais António da Costa Guimarães e António Macedo Guimarães.
Na altura seria também deliberado convocar uma Assembleia Geral extraordinária para 5 de outubro a fim de se proceder à eleição do Capitão Geral do Grupo e alteração de estatutos, bem como seria exarado um elogio à direção demissionária e ao tenente Campos de Carvalho.
5. Os novos Paços do Concelho
Neste ano, em agosto, iniciar-se-ia também o projeto de construção dos novos Paços do Concelho, a cargo do arquiteto Marques da Silva, que pretendiam integrar outros serviços públicos como as Finanças, o Tribunal e as Conservatórias. O projeto daria ainda azo a abrir uma nova praça (atual Praça da Mumadona) e oito novas ruas adjacentes, com base num projeto de urbanização de Luís de Pina. Porém, como sabemos, as obras parariam frequentemente, de tal forma que, em 28 de maio de 1926, aquando do golpe militar que instalou a Ditadura, seriam abandonadas e, apesar de subsequentes tentativas da sua retoma, acabariam por se degradarem e serem posteriormente demolidas, em 27 de junho de 1938.
No entanto, como mais tarde


PTRMGMRCFM0840. Av. Dos Combatentes da Grande Guerra, vê-se os arcos dos Paços do Concelho (não executado). Entre 1950-1954.

sublinharia Fernando Távora, uma urbanização que pelo seu arrojo, dimensão e carácter inovador merecia os maiores encómios.
6. A tensão elétrica
Na passagem dos anos 23/24 uma grande tensão entre os amigos republicanos Mariano Felgueiras e Bernardino Jordão causaria choque e faísca, que culminaria com a interrupção do fornecimento de energia elétrica a Caldas das Taipas.
Na circunstância e perante o pedido de aumento dos preços da energia elétrica por parte do concessionário e consequente falta de acordo camarário, um “curto-circuito” entre as partes cortaria a luz a Caldas das Taipas.
O periódico republicano “A Razão” de 10 de fevereiro de 1924, noticiava:
“Os concessionários da luz elétrica em Guimarães e Taipas cortaram a luz por livre alvedrio, nesta última população.
Respeito pelos contratos e pelos interesses públicos e particulares foram postos de lado (…). 0 procedimento do dono da luz em Guimarães, encontrou na Câmara uma oposição às ambições desmedidas (…)
A Câmara reunida em sessão extraordinária de 23 de Dezembro passado, resolveu, por unanimidade, em sessão presidida pelo seu presidente Sr. Mariano Felgueiras:
1 º notificar judicialmente os concessionários da luz elétrica para, nos termos do atrigo 25º. do Contrato, restabelecer no prazo de dois dias a luz elétrica nas Taipas;
2.º autorizar o seu presidente a tomar todas as medidas para assegura, provisoriamente, a iluminação daquela povoação, sem olhar a despesas, pois todas elas os riscos correriam por conta dos concessionários, nos termos do contrato;
3 º fazer as necessárias comunicações ao Sr. Ministro do Comércio;
4.º promover nos tribunais competentes a ação de rescisão do contrato, procedendo-se depois nos termos do artigo 26.º.
Trabalha agora a Câmara no sentido de conseguir que o preço da energia não seja o que os concessionários querem, mas sim o que deve ser”.
E assim seria…
7. As tensões sociais
O ano de 1924 foi também um ano tenso socialmente, quer em movimentos de rua quer nas páginas da

imprensa da época, em especial entre os 3 jornais monárquicos (Comércio de Guimarães, Gil Vicente e Ecos de Guimarães) e o periódico republicano “A Razão”.
Efetivamente, a situação social era um barril de pólvora que o próprio jornal do poder reconhece: “tanto dinheiro e tanta miséria. Tantos ricos e tão pouco amor à terra”. De facto, e particularmente em outubro, efetua-se um comício no Teatro Gil Vicente organizado pelos artistas (leia-se operários) que se sublevam contra a situação social, cujos culpados, assume o periódico Comércio de Guimarães de 28 de outubro “são os grandes negociantes e negociatas escandalosas (…) é o governo que sabendo onde existe o mal, tenta asfixiar o pequenino, deixando à solta aqueles que amontoam capital e se riem da miséria do povo”.
Aconteceria ainda uma grande manifestação operária que o monárquico Comércio de Guimarães de 31 de outubro assim descreve, sob o título “Movimento Operário – A ordem da cidade entregue ao comando militar”:
“Os operários de Guimarães, em número de algumas centenas, na terça e quarta-feira passada, abandonaram o trabalho e percorreram a cidade em atitude hostil.
Houve comícios e dizem-nos, que alguns oradores proferiram frases que feriram o brio e a dignidade das classes militar e eclesiástica.
Os ânimos estavam exaltados. Houve tentativas de assalto, correrias, violências várias.
As autoridades administrativas, em virtude das reclamações recebidas, entregaram a cidade ao comandante militar, sendo severas as ordens dadas.
Além das 9 horas, ninguém podia transitar sem motivo justificado e mesmo de dia, não eram consentidos grupos parados pelas ruas.
As fábricas diminuíram os dias de trabalho (…) as lojas comerciais sustentam os seus empregados e todos procuram equilibrar-se como podem”.
Efetivamente, num clima de contestação generalizado em que todos berram, particularmente contra a carestia da vida e excesso de impostos, multiplicam-se a ações de protesto e denúncia. Por exemplo, denunciava-se que as sardinhas eram vendidas especulativamente em Guimarães, ou seja, a 20 centavos cada, enquanto na Póvoa de Varzim custavam 70 centavos por cento. Contestava-se assim a subida de preços especulativa. como se leria no Comércio de Guimarães de 1 de julho, sob o título “Inaceitável”:
“O vinho subiu de preço. O pão sobe tão vertiginosamente como a libra. Fruta não há e a pouca que há só é acessível a bolsas dos ricos.

O bacalhau, o fiel amigo, está por preços exorbitantes.
Não há ordenados, por grandes que sejam, que cheguem”.
Porém, além do controlo da especulação solicitava-se também a compressão dos impostos:
“Esperem um pouco mais e verão se não terão de ganhar dia e noite, para dar ao bem estar dos que passeiam, sem nada fazer. Isto ainda é o princípio” – lia-se no Comércio de Guimarães de 25 de janeiro.
Por seu turno as classes dominantes, apesar das suas divisões políticas, também se uniriam perante o perigo. Deste modo, formariam a União dos Interesses Económicos, juntando administradores, industriais, proprietários e comerciantes, organizando os seus interesses e criando uma comissão para apoio aos operários, em moldes caritativos.
8. Outras controvérsias
Duas outras situações polémicas mobilizaram os vimaranenses em 1924: o leilão da Igreja de Santa Clara e a lei do selo.
De facto, perante o leilão anunciado para 1 de junho dos objetos de arte da Igreja de Santa Clara, a Sociedade Martins Sarmento e personalidades vimaranenses da época, entre os quais A. L. de Carvalho, Eduardo Almeida e Joaquim José de Meira, insurgiram-se contra esta ameaça séria, incentivando os vimaranenses à defesa do seu património. Porém, o leilão avançaria, o que leva a escrever-se no Comércio de Guimarães de 10 de junho que “a República escreveu, no dia do leilão de Santa Clara, mais uma negra página na sua triste história”. Efetivamente, em Guimarães, pouco ficaria desse património perdido …
Em contrapartida, através do decreto n.º 19:371 de 9 de dezembro de 1924, sob proposta do Ministro da justiça e da Cultura, seria estipulado que à Câmara Municipal de Guimarães fossem cedidos, a título definitivo “para nele continuarem instalados o Liceu Nacional e o Internato Municipal para estudantes menores, todo o edifício do suprimido Convento de Santa Clara”.
Outro aspeto de controvérsia centrou-se na lei do selo, proposta pelo governo, que levou ao encerramento do comércio em outubro. Assim, conta o Comércio de Guimarães de 17 de outubro: “Guimarães secunda patrioticamente o movimento contra a lei do selo. Guimarães, que já tinha dado a sua adesão ao movimento encetado, não podia nem devia ficar indiferente e não fechar, com protesto, os seus estabelecimentos.

E assim, sem uma única deserção, tivemos ontem o comércio fechado, estando apenas abertas meias portas de mercearias.
Era bem a cidade de luta, era um processo violento, mas ordeiro, contra uma lei iníqua e absurda”.
9. As festas e as tradições
Como é óbvio, em 1924, ocorreriam também as festividades costumeiras.
Realmente, a 9 de março, decorreria na Sociedade Martins Sarmento (SMS) a sessão solene de distribuição dos prémios aos alunos das escolas concelhias, abrilhantada com a banda dos Bombeiros Voluntários e, à noite, A. Mendes Correia, da Universidade do Porto, proferiria a conferência “Os primitivos povos da Lusitânia”, complementado pela atuação do Orfeão de Guimarães.
Na altura, o jornal “Ecos de Guimarães” de 9 de março, publicaria o soneto de autoria de Mendes Simões sobre a SMS e suas figuras:
“Como um astro soberbo e luminoso, Surge de Guimarães uma linda História, E o povo, sempre ufano e respeitoso
Guarda seu nome descrito na memória.
Legou-nos um trabalho assombroso
Colosso enorme e não tarefa inglória,
Aquele génio heroico e portentoso, Honra de Guimarães, padrão de glória.
A sua vida forte na labuta
Em prol da ciência, honrando Portugal, Foi um combate rude, ardente luta …
E assim o nome de Martins Sarmento
Subsiste nobre, belo, imortal, Nas pedras de soberbo monumento”.
Outrossim, realizar-se-iam as Festas Gualterianas, em 2,3 e 4 de agosto. Houve feiras francas, bandas musicais, arraiais, e uma garraiada com 8 toiros lidados pelos cavaleiros Ildefonso de Almeida, do Porto e Rodrigo Teixeira, da nossa cidade. Porém, a Marcha desfilaria empobrecida, sem grande brilho, reveladora

dos efeitos da crise económica e social. De facto, a Marcha Gualteriana sairia apenas com dois carros alegóricos.
Deste modo, constituiria o momento mais alto das festas a imposição da Cruz de Guerra de 1.ª Classe à Bandeira do Regimento de Infantaria 20, pelo então Ministro da Guerra, general Gomes da Costa, cerimónia pública agendada para esta altura. De facto, inserida nas festas, efetuou-se um cortejo entre o Toural e o Paço dos Duques, local onde seria descerrada uma placa evocativa e seria condecorado o Regimento de Infantaria 20, pelos feitos dos seus militares. Recorde-se que o regimento, sediado em Guimarães, distinguirse-ia heroicamente na batalha de La Lys, no setor de Fauquissart, na Flandres, durante a I Grande Guerra Mundial, apesar da perda de muitos homens.
Igualmente em setembro, a Peregrinação à Penha voltaria à sua grandiosidade, sob um tempo nubloso e fresco, envolvendo cerca de 200 associações católicas e centenas de milhares de peregrinos e as Nicolinas estariam na rua com os seus números habituais.
Aliás, na Penha, com a publicação no Diário do Governo da portaria n.º 3885 de 25 de janeiro, a Irmandade veria reconhecido o seu direito de propriedade sobre o edifício da Casa do Despacho, após trânsito em julgado de ação judicial encetada.
Outras festas comemorativas ocorreriam, como o aniversário dos Bombeiros Voluntários, com referências elogiosas ao comandante Simão Costa Guimarães e ao 2.º comandante José Luís de Pina. Entretanto, fora das festas cíclicas, comemorar-se-ia também a festa comemorativa da chegada a Macau dos heroicos aviadores Brito Pais e Sarmento Beires, reveladora do interesse dos vimaranenses por estes voos, tal como acontecera com Gago Coutinho e Sacadura Cabral.
Festejar-se-ia também o 14.º aniversário da proclamação da República, a 5 de outubro, que o periódico monárquico “O Comércio de Guimarães” de 7 de outubro ironizaria, informando que teriam decorrido sem entusiasmo:
“Escassos, fracos e frouxos foram os regozijos. Mais se assemelhavam ao estertor agonizante (…) Em Guimarães, uns morteiros, os repiques dos sinos, entidades oficiais embandeiradas, algumas luminárias e … o povo indiferente seguia a sua rotina, procurando equilibrar-se no roldão da vida, olhando apavorado o presente perscrutando receoso o futuro”.

10. Ocorrências diversas
Em matéria de obras praticamente pouco saiu do papel. Por estes tempos, seriam equacionadas as obras de abastecimento da água a Caldas das Taipas que teve um penoso caminho até 1925 e o Senado aprovou várias reparações e melhoramentos em várias municipais e/ou novas estradas interrompidas anteriormente.
Entretanto, em agosto, iniciar-se-iam os projetos de construção dos novos Paços do Concelho e das novas artérias em seu torno, que seriam apoiadas pelos republicanos e generalidade da sociedade local, não obstante a oposição do jornal “Ecos de Guimarães”, que ironicamente afirmaria: “a Câmara comprou mais de 40 contos de terrenos, só daqui a mil anos as obras mirabolantes do município mariânico estarão concluídas. É tributar à doida”.
Seriam ainda trilhados passos iniciais rumo à rede telefónica, que no ano seguinte avançaria, e adquiridas várias águas particulares da Penha para reforçar o abastecimento da cidade, tomando-se a decisão de expropriar terrenos e prédios degradados confinantes com a via pública, deliberação que mereceria o voto contra do vereador monárquico.
Como é costumeiro, mudou também a toponímia local, surgindo o Largo Cónego José Maria Gomes (largo do antigo liceu), o Largo 13 de Fevereiro (Praça de S. Tiago) e a Rua Capitão Alfredo Guimarães (que ainda hoje mantém essa denominação).
Em matéria cultural, prometia-se (ainda) avançar nas obras de benfeitoria no teatro-barracão Gil Vicente e destacam-se as atividades promovidas pela Sociedade Martins Sarmento, quer através de conferências quer de exposições, nomeadamente a Exposição de Bronze e Barros de Soares dos Reis e Teixeira Lopes, organizada pela empresa Artística Teixeira Lopes.
Entrementes, em novembro, o pintor vimaranense Abel Cardoso exporia a sua obra em Lisboa, no Salão Bobone. O ano ficaria ainda marcado pelo arranque dos escuteiros em Guimarães, marcado por um desfile de jovens, nas imediações do Campo de Minotes, que faria parar a cidade.
Assim ia Guimarães no ano republicano de 1924. Factos e acontecimentos que, por vezes e afinal, nos fazem lembrar que ciclicamente algumas coisas se repetem…


António Magalhães - “O construtor da Guimarães cosmopolita”2
24 anos Presidente da Câmara Municipal de Guimarães (1990-2013)
Raul Rocha
António Magalhães foi o Presidente de Câmara da Democracia. Em espaço temporal, foi, aliás, quem exerceu funções de liderança municipal durante um tempo mais longo em todos os regimes políticos, muito para além de qualquer outro.
Comecemos, por isso, pelo tempo, embora tal não tenha sido o mais importante na atribuição da sua liderança na história local. Na Monarquia, no período das Constituições liberais, emergiu a figura do Conde de Margaride; na Primeira República, Mariano Felgueiras; no Estado Novo é consensual o registo da figura de José Maria Castro Ferreira (1955-1963); na democracia em que vivemos, o consenso é evidente sobre António Magalhães que foi Presidente da Câmara durante 24 anos (1990-2013) e foi nesses seus seis mandatos que Guimarães se consolidou como Cidade cosmopolita, integrante da Europa e do Mundo. A classificação como Património Cultural da Humanidade (2001) e Capital Europeia da Cultura (2012) foram marcos da vida de Guimarães que sucederam na sua presidência e marcaram as suas opções e as suas concretizações.
Tudo terá resultado da sua opção, construída por um Presidente que queria ter “mundo”, que queria conhecer, e não se limitar aos seus horizontes de uma cidade que tinha uma história, uma economia, mas que, para se diferenciar no mundo urbano competitivo que começava a ser o europeu, tinha de ter objetivos claros e concretizáveis.
Amadeu Portilha, um dos seus colaboradores mais próximos, recorda:
“António Magalhães sempre teve uma ideia muito definida e coerente sobre o que pretendia para Guimarães, construída muito em alternativa ao que eram Braga e o Porto, na altura. Braga apostava na construção nova e a preços baixos, nós apostávamos na reabilitação urbana e numa programação cultural de qualidade, ligando o material ao imaterial. O Porto assumia-se como uma cidade macro, a capital de uma região, e nós devíamos ser uma cidade média, à escala humana, onde fosse mais agradável viver”.
2 Este texto contém extratos de alguns capítulos de um trabalho mais aprofundado sobre momentos dos 24 anos da presidência municipal de António Magalhães, com base num longo depoimento que me concedeu.

Este traço diz muito sobre a linha e o programa do Presidente que tanto marcaria a Guimarães de hoje. Somos, hoje, uma cidade cosmopolita, em que o medieval Largo da Oliveira e as praças adjacente são o mundo, porque muito antes do Turismo mundial descobrir Guimarães, António Magalhães sonhou com uma cidade cosmopolita, europeia, como a que ele visitara, na viagem que marcou a sua vida à Grécia, no Verão de 1975.
Iniciou, em 1989, uma liderança na sociedade vimaranense de um quarto de século, a mais longa da história de Guimarães.
Com António Magalhães, colaborei diariamente e intensamente durante 16 anos (os seus últimos quatros mandatos de presidente). Conhecia-o bem, nas suas paixões, sensibilidades, aprofundamentos, intuições políticas. Houve momentos difíceis de que fui testemunha silenciosa. Resolveu-os sempre pela intuição. Liderou. Com a sua modéstia, construiu, como ninguém, a Guimarães do século XXI.
Foi presidencialista, mas deixou escola e sucessão, e, acima de tudo, reconhecimento de todos, daqueles a quem pedia ajuda política e foi a sua grande referência política como Jorge Sampaio, dos seus colaboradores no terreno em quem delegava responsabilidades, do povo vimaranense que sempre viu nele o “seu Presidente”.
O novo presidente que vai iniciar um ciclo de 24 anos (seis mandatos) recorda a reação inicial no momento da primeira vitória:
“Festejei, mas tive pena de ter de abandonar a assembleia da república. No parlamento tinha, ao fim de onze anos de deputado, ganho estatuto e pertencia à direção do grupo parlamentar do PS liderado por Jorge Sampaio. Já me sentia com mais competências, a função de deputado foi um curso superior de política que aproveitei, onde tive dificuldades iniciais, pois quem vive nos círculos de Lisboa tem outras facilidades, mas onde apreendi tudo que coloquei depois ao serviço de Guimarães, nos vinte e quatro anos da minha presidência”.
Antes das eleições, foi resolvido o problema do Vitória que tanto tinha envenenado eleições anteriores. O PS, o PSD e o Vitória assinaram um acordo no Restaurante Baptista onde se estabelecia a cedência do Estádio Municipal ao Vitória, fosse qual fosse o resultado eleitoral.
A lista candidata pelo PS à Câmara, em 1989, foi escolhida por António Magalhães. Continuaram António

Castro, com experiência de gestão na ALFA, e Fernando Marques, que tinha conhecimentos da legislação administrativa importantes. Entraram, como novos vereadores, José Martins, que tinha um percurso na administração pública, no Hospital, e para a educação e cultura, Orlando Coelho, amigo desde os tempos de professor na “João de Meira” e Ermelinda Oliveira, praticamente a única mulher com atividade militante, na época.
Inicialmente, a maioria da equipa não conhecia a Câmara. Ao contrário, António Magalhães conhecia todos os pelouros muito bem. Por isso, assumiu as principais competências, não delegou e só foi atribuindo funções com o passar do tempo. Nos seus últimos mandatos, delegava, logo no início, todos os pelouros. O que mudou mais profundamente foi a execução. Acabaram as reuniões semanais, que passaram a quinzenais, como determina a lei, iniciadas na hora marcada e não duas/três horas depois como antes sucedia, e deixou de se discutir de tudo exaustivamente.
António Magalhães recorda os seus vereadores e episódios:
“O António Castro afirmou-se cedo como elemento fundamental. Tinha um jeito especial para negociar e encontrar parceiros privados que permitiram concretizar importantes investimentos. A Câmara não tinha dinheiro, mas construímos equipamentos muito necessários para a qualificação da cidade. Foi a única forma de dar o salto qualitativo. A Alameda Alfredo Pimenta foi paga pelo promotor do empreendimento “Triângulo”. A central de camionagem pelo promotor do Guimarães Shopping…. Tinha também jeito para equilibrar tensões. Foi o melhor colaborador que tive nos vinte e quatro anos de presidência.
Tivemos cedo a consciência de que muitos dos investimentos de que Guimarães precisava iam passar pela AMAVE. A Câmara adquiriu instalações e a sede da AMAVE foi localizada em Guimarães. Foi uma decisão estratégica. A AMAVE apresentou várias candidaturas a fundos comunitários: a VIM Joane/Vizela, oito escolas EB2,3, a Central de tratamento de resíduos que foi instalada com forte contestação popular em Lordelo/Riba d’Ave, as ETAR para tratamento dos efluentes domésticos e industriais com vista à despoluição do Ave. Estes investimentos demoraram anos a ser concretizados e só avançaram significativamente no Governo de Guterres com a Ministra Elisa Ferreira, profunda conhecedora do Ave, mas muito exigente e rigorosa nas negociações que tivemos de concretizar com o Governo.
No investimento, ainda com pouco dinheiro, teve prioridade o fim do regime triplo no ensino primário. Os alunos iam à escola apenas três horas por dia: 8/11, 11/14, 14/17. Também a pavimentação em asfalto dos acessos aos centros das freguesias e as eletrificações foram realizadas. Só mais tarde teve lugar o saneamento e a água. É curioso que pretendemos instalar cantinas nas escolas e ninguém queria porque os alunos não ficavam lá na hora de almoçar. Só havia então dois refeitórios escolares: Abação e Ronfe.

As relações com as juntas de freguesia não foram fáceis, no início, dos meus mandatos. Mesmo com as eleitas pelo PS. Lembro-me de uma reunião do PS, que decorreu na EB1 de Selho S. Lourenço, acabada de inaugurar, onde ouvi muitas críticas dos autarcas das freguesias aos investimentos na cidade. O Partido só dava importância ao centro histórico. Vinham com o modelo de Braga, onde estava a ser construído um campo de futebol em cada freguesia. Foi um episódio difícil.
Mas eu estava empenhado na requalificação do centro histórico. Era o que podia diferenciar Guimarães. O GTL foi reforçado com economistas, assistentes sociais. Na área, hoje classificada, não havia saneamento. Houve muitas resistências às primeiras intervenções no espaço público.
A aposta na cultura vem da reabilitação do centro histórico. Se uma marca queríamos assinalar na cidade era o nosso valor patrimonial, tínhamos de lhe associar uma vivência cultural. Ligar o material ao imaterial.
É daí que vem a aposta no Moncho Rodriguez, muito conceituado, que fez e deixou um excelente trabalho.
As representações por ele encenadas e apresentadas nas fábricas antigas realçaram o património que esses espaços possuíam. Foi embora por motivos pessoais, mas deixou escola.
Neste meu primeiro mandato foi muito importante a edificação do Auditório da Universidade do Minho, o primeiro da cidade. A Câmara suportou 1/3 do custo numa parceria que garantia a sua utilização pelo Município e pela cidade. Houve algumas críticas por ser longe do centro, mas hoje está perfeitamente integrado. Essa necessidade de um auditório acentuou-se com o encerramento do Teatro Jordão que, como sucedeu pelo país fora, encerrou porque as dimensões daquela sala deixaram de ser adequadas aos espetáculos de hoje. A direita reivindicou durante muito tempo que a Câmara adquirisse o Teatro, a família proprietária pedia valores muito elevados, mas o meu entendimento foi sempre que aquele edifício, independentemente da sua memória, não tinha condições, para reabilitado, cumprir a função que teve durante décadas. O Secretário de Estado Santana Lopes veio cá, prometeu apoios, nada concretizou, mas o “Jordão” nunca seria o que foi. Por isso, partimos para o projeto do Centro Cultural Vila Flor.
Vivemos alguns problemas, que sabíamos apenas temporais, com a sobrelotação do 3.º ciclo do ensino básico. Foi o tempo em que o 9 º ano passou a ser a escolaridade obrigatória e foi necessário ter escolas para acolher todos aqueles que passaram a frequentar o 7.º, o 8.º, o 9.º ano, e deixaram o trabalho infantil. Já tínhamos dados que nos permitiam concluir que o número de crianças em idade escolar ia diminuir fortemente e consequentemente não parecia lógico construir novas escolas que, a médio prazo, iam ficar vazias. Era preciso equilíbrio. Foi nesse período que avançou a EB 2,3 de Abação, mas pela pressão da ocasião. As crianças do mundo rural ganham muito mais em vir frequentar escolas da cidade do que permanecer até aos 15 anos no meio onde nasceram.
A limpeza da cidade não correspondia aos nossos objetivos de um ambiente acolhedor, limpo. Tínhamos de investir na frota de recolha. A questão da limpeza dizia-me muito. Ainda hoje, quando visito uma cidade, observo com particular atenção a limpeza dos espaços públicos. O investimento nesta área obrigou à criação da taxa de resíduos que foi inicialmente muito contestada, particularmente porque, na época,

poucas Câmaras a tinham instituído, e em Famalicão, muito próximo, não havia taxa. Houve manifestações de contestação. Fomos em frente e, no final dos meus mandatos, Guimarães era referência nacional na limpeza urbana”.
E António Magalhães continua a fazer o balanço desses primeiros quatro anos:
“No final do mandato, tinha consciência de que correra bem. Aliás, no final de todos os mandatos, tive sempre a consciência de que a população me apoiava. Fui sempre para a eleição seguinte com toda a certeza de que ganharia, podendo ter mais ou menos maioria. Senti, nesse primeiro mandato, que as pessoas gostaram da viragem, de ter um Presidente que mandava. Houve quem me acusasse de “ditador”, mas essa imagem ajudou-me. Ainda não tinham passado muitos anos do 25 de abril e ninguém confundia ordem com ditadura. Houve episódios de contestação. Pais que fecharam escolas. Dizia à Polícia: “Se fecharam é porque querem a escola fechada. Vamos aguardar, quando deixarem abrir, voltam a funcionar”. Nunca nenhuma ficou encerrada mais que um dia (…)”.
Os grandes investimentos em novos equipamentos municipais
No mandato que vai de 1998 a 2001 avançaram importantes equipamentos que, hoje, são uma maisvalia de Guimarães: o Parque da Cidade, o novo Arquivo Municipal, o Tribunal da Relação, o Equipamento Social de Couros, o Multiusos, a Cidade Desportiva. Começou a ser elaborado o projeto do Centro Cultural Vila Flor e foi tomada a deliberação de construir um novo Estádio no mesmo local onde se erguia o anterior.
O Parque da Cidade foi um equipamento ambiental por contraponto à densificação construtiva da Costa/Mesão Frio. Tinha havido uma aquisição faseada de terrenos naquela área, foram cedidas ao domínio público outras áreas resultantes de licenças de urbanização, o município ficou proprietário de cerca de 22 hectares. A arquiteta, escolhida para o projeto do Parque, era proprietária na área, tinha projetos para ela e queria defender o património ambiental, estava muito sensibilizada para o assunto. Magalhães comenta: “A verdade, porém, é que a opinião pública não nos pressionou para a execução do Parque. Ninguém o exigiu. Foi um investimento que partiu só da nossa consciência ambiental”.
A instalação do Tribunal da Relação, em Guimarães, uma estrutura judicial, antes nunca localizada fora das capitais distritais, foi Guimarães que teve de a ganhar a Braga e a Viana do Castelo; só foi possível pelo empenho do Presidente, Jorge Sampaio, junto do então Ministro da Justiça, Vera Jardim. Foi um, entre muitos outros exemplos, do grande apoio que o Presidente Sampaio concedeu a Guimarães nos dez anos da sua

presidência. Sampaio tinha ascendência familiar, em Guimarães, mas a amizade com António Magalhães pesou sempre muito nesses apoios e diplomacias de influência.
A primeira intervenção na zona de Couros com a requalificação da antiga Casa do Cidade, permitindo a instalação do equipamento social da “Fraterna”, do Cybercentro, da Pousada da Juventude, foi também uma obra muito importante. O projeto foi de um arquiteto de referência de Lisboa, Nuno Teotónio Pereira. Foi um conselho do Primeiro-Ministro António Guterres que indicou o modelo de participação conjunta da Câmara e de instituições sociais, como sucedeu. Magalhães recorda que, na formação da “Fraterna”, tiveram uma participação importante dois nomes muito marcantes no apoio social, na nossa sociedade local: a empresária Manuela de Melo e o anterior Presidente da Câmara António Xavier.
Marcante foi também o encerramento das lixeiras, um processo que deu muitas dores de cabeça. O José Sócrates, na época Ministro do Ambiente, era muito determinado e decidiu encerrar todas as lixeiras. Em Gonça, depositavam Fafe, Famalicão, Vizela e Guimarães. O encerramento obrigava à instalação de aterros sanitários. Mas os aterros eram vistos pelas populações como novas lixeiras, não era fácil consensualizar locais. Na AMAVE estava votado que o próximo aterro a construir seria em Fafe e a seguir em Famalicão. Mas estes municípios pretendiam adiar e fugir à instalação. As juntas de Gonça, Souto S. Maria e Gondomar tinham aguentado vários anos, recebiam alguma compensação municipal extraordinária, mas as populações opunham-se à continuação da situação.
Outro problema complicado teve a ver com o traçado inicialmente previsto para o atravessamento da cidade pela autoestrada que estava em construção. Esse traçado seria muito próximo da área central, particularmente na zona de Urgezes. A parceria público-privada com a AENOR estava celebrada e não era fácil alterar um traçado com terrenos negociados e projetos elaborados. Magalhães teve de usar a sua influência política como um dos mais prestigiados autarcas do PS:
“Fiz ver ao Ministro das Obras Públicas Ferro Rodrigues a nossa oposição. Ele pediu-me uma exposição fundamentada e que confiasse na equipa do Ministério chefiada pelo Secretário de Estado Vieira da Silva que não conhecia. Foram inexcedíveis no acompanhamento do processo e a autoestrada foi afastada de acordo com as nossas pretensões. Foi a primeira dívida de gratidão de Guimarães para com Vieira da Silva. O governo teve de indemnizar o sindicato bancário que financiou o investimento em valores significativos, mas Guimarães ganhou”
O mandato não foi, apesar do conjunto enorme de realizações estruturantes, fácil. O mais difícil terá

sido, porém, o processo do novo Estádio Afonso Henriques, que a Câmara decidiu construir, apesar do anterior Estádio ser propriedade do Vitória, para que Guimarães fosse cidade do Euro 2004, Campeonato da Europa de Futebol. Magalhães, adepto apaixonado do futebol, empenhou-se:
“Havia uma pretensão da Direção do Vitória e dos adeptos vitorianos para que Guimarães integrasse as cidades do Euro 2004. A primeira questão que foi colocada era: Construir um novo Estádio ou requalificar o existente, construído em 1965? Deleguei no Amadeu Portilha ir ao Euro 2000 que se disputou na Bélgica e na Holanda para ver as condições que tínhamos de satisfazer. O Presidente do Vitória, Pimenta Machado, defendia a construção de um novo Estádio na Veiga de Creixomil, onde está a cidade desportiva, e a venda em lotes dos terrenos do atual Estádio para construção em altura. A Câmara não aceitou e decidiu: vamos reabilitar o Estádio existente. Penso que a nossa opção foi a melhor. A localização do Estádio tem um forte simbolismo na história da cidade e na história vitoriana. Foi ali, ou nas proximidades, que esteve localizado o Benlhevai, o Campo da Amorosa, ou seja é ali que o Vitória joga desde os anos trinta do século passado. Um Estádio no centro é uma mais-valia urbana. Tivemos o cuidado de integrar na fachada virada para a Avenida S. Gonçalo a imagem de um prédio urbano. Foi uma construção que cumpriu escrupulosamente os prazos e os orçamentos tendo custado ¼ do orçamento do novo Estádio de Braga.
No período que antecedeu o Euro 2004, recebemos várias inspeções e delegações da UEFA, sempre muito preocupados com prazos e exigências na construção. Nunca sentimos essas preocupações, já estávamos habituados a obras com dimensão: multiusos, cidade desportiva, o CCVF estava em curso. Guimarães ganhou uma grande projeção. É certo que contávamos com uma maior ocupação hoteleira. Os staffs da organização, das seleções, instalaram-se em Guimarães e contribuíram para importantes receitas. Mas os adeptos viajaram em aviões fretados e foram embora pouco depois do final dos jogos. Foi e é assim em todos os europeus e mundiais. 2004 foi, porém, um ano excecional para Guimarães que valeu a pena. (…)”
Sampaio e Guterres: duas referências
António Magalhães inicia-se na vida política quando Mário Soares é o fundador, o líder do PS. Mas logo a seguir entra na assembleia da república e Soares é Primeiro-Ministro e Salgado Zenha, o líder parlamentar. Zenha era eleito pela Federação de Braga e daí uma maior proximidade. Quando, mais tarde, se dá a disputa interna entre Soares e o grupo do ex-secretariado, Magalhães está com o ex-secretariado, com Zenha. Mas, fundamentalmente, com dois destacados membros desse grupo, que passam a ser suas referências: Sampaio e Guterres. No pequeno grupo de deputados que se reúne no “sótão” de Guterres para se oporem a Soares, está António Magalhães. A evolução das relações com Guterres e Sampaio, ao longo da vida política de Magalhães, foi diferente, até porque, nos anos 1990, um e outro disputam a liderança do PS e Magalhães está

com total fidelidade a Sampaio, mesmo sabendo que este seria provavelmente derrotado, como sucedeu.
Esta ligação de Magalhães com Sampaio e Guterres, de quem foi mandatário distrital em eleições legislativas e presidenciais, ajudaram muito as suas presidências municipais. O “topo do bolo”, o momento simbólico que Magalhães recorda com particular carinho, é a festa da elevação de Guimarães a Património Cultural da Humanidade. Conta:
“As eleições de 2001 decorreram uma semana depois da inauguração do multiusos pelo Primeiro-Ministro António Guterres e, dois dias depois, da aprovação pela UNESCO da nossa classificação como património cultural da humanidade. A festa só decorreu uma semana depois das eleições porque não quisemos confundir uma vitória de todos com propaganda eleitoral. Na festa esteve o Presidente Jorge Sampaio e o Primeiro-Ministro António Guterres, este num dos seus últimos atos porque se demitiu na sequência dessas autárquicas que foram negativas para o PS, o que não sentimos em Guimarães pois voltamos a vencer com maioria”.
Esta junção destes dois amigos no ato comemorativo foi particularmente sentida por António Magalhães, que, apesar dos apoios referidos nos governos de Guterres de 1995 a 2001, nunca se sentiu apoiado particularmente pelo Primeiro-Ministro. Tinha aliás, com isso, uma profunda mágoa, porque ele era uma sua referência política. Admitia que a opção que tinha assumido na disputa interna não estivesse ultrapassada.
Na presidência da república de Jorge Sampaio em 1996 – 2006, sim. Magalhães sempre sentiu que tinha aí o seu maior amigo, protetor, conselheiro na política. Tal foi ainda mais evidente na organização de Guimarães CEC 2012, quando já Sampaio não era Presidente, como se contará a seguir. (…)
Francisca Abreu, a cultura, a CEC 2012
Magalhães recorda:
“Poucos meses depois das eleições de 2005, a oposição fez um grande alarido com a localização, em Braga, do Instituto de Nanotecnologia. O PSD sempre desvalorizava os investimentos que os governos PS faziam em Guimarães e sobrevalorizava equipamentos localizados fora, nomeadamente em Braga. Na época, eu não podia revelar que o governo ia atribuir a Guimarães a Capital Europeia da Cultura. Mas sabia, por informação direta do Primeiro-Ministro José Sócrates, que seria atribuída a Guimarães. Tinham sido ponderadas Funchal, Braga, Coimbra, Évora e Guimarães. Tive de esperar até ser marcada para Guimarães, para Vila Flor, a reunião do Conselho de Ministros. À espera da reunião estava uma manifestação da CGTP. O anúncio foi público e caíram as felicitações a Guimarães. A oposição não percebeu o alcance

da escolha. Começou a dizer que a atribuição da CEC era uma compensação por Braga ter a Nanotecnologia. Não entendeu que, se houve compensação, foi ao contrário.
Eu próprio reconheço que não sabia bem o que seria para Guimarães ser Capital Europeia da Cultura. A Francisca Abreu terá tido logo uma melhor perceção. Começamos a trabalhar, constituímos uma equipa, avançamos para um orçamento e para um programa. Cedo garantimos 111 milhões, 75 para reabilitação, 35 para o imaterial.
A candidatura tinha de respeitar as verbas acordadas, ou seja, a verba para reabilitação tinha de ser gasta em reabilitação e na zona histórica/zona tampão. Por isso alargamos a área à zona de Couros. Já há muito que pensava que devíamos intervir no Toural que não sofria qualquer requalificação desde meados do século XX. O Júlio Mendes, vereador do departamento de projetos, entregou ao Gabinete “Pitágoras” esse projeto de intervenção, mas fui logo avisado que esse Gabinete, que tinha realizado para a Câmara projetos muito bem conseguidos para importantes equipamentos municipais, tinha menor capacidade para intervenções em espaço público. A sua proposta de estudo para a instalação de um parque de estacionamento no subsolo do Toural nunca poderia ser concretizada, teria sempre a oposição do IGESPAR, como já tinha sucedido antes com um admitido parque no largo da Misericórdia, também rejeitada pela tutela. Só me arrependo de não ter exigido ao IGESPAR essa recusa em documento escrito, o que me teria poupado tempo na discussão com a oposição…. Há sempre quem projete coisas impossíveis. Foi também o que sucedeu com o lago na veiga de Creixomil que não teve também viabilidade. A requalificação na veiga teve de limitar-se à intervenção na antiga fábrica onde está instalado o Laboratório da Paisagem e no antigo caminho real. O resto é ambiente natural que tem de ser preservado. No debate da requalificação do Toural senti mais preocupações da opinião popular com a Fonte que propriamente com o parque. A solução de instalação da Fonte, que historicamente tinha estado no Toural e estava há décadas no Carmo, foi bem recebida assim como a colocação junto à Secundária Francisco de Holanda da anterior Fonte do Toural.
A concretização da CEC 2012 exigia uma nova instituição, participada pelo Município e pelo Governo. Inicialmente, criamos uma empresa municipal que seria presidida pela Francisca Abreu. A tutela considerou que não teria a importância necessária e aconselhou a criação de uma Fundação presidida por alguém com relevância, pelo menos regional. Foi assim que chegamos à escolha de Cristina


Azevedo, embora recorde toda a informação que recolhemos sempre com a ajuda de Jorge Sampaio que, desde a primeira hora, foi o meu principal conselheiro em matérias da CEC.
Passarei para a segunda fase da construção da CEC, quando João Serra assumiu a presidência da FCG. Ele conseguiu dar uma volta completa ao processo, ganhar a cidade para o projeto, garantir o empenho de todos os programadores e alcançar os apoios comunitários necessários.
Para tal, foi fundamental, além de João Serra, figura central do êxito alcançado, o trabalho da Francisca Abreu e do Carlos Martins que tinha pretendido sair, mas a quem pedi para ficar porque sempre compreendi que ele era uma peça fundamental. Importa aqui registar também o importante apoio que recebemos da Presidência da República e do governo da AD, através do Secretário de Estado Francisco José Viegas. Para o empenho do Presidente Cavaco Silva, foi decisiva a relação que existia entre o João Serra, que tinha sido Chefe da Casa Civil do Presidente Sampaio, com Nunes Liberato, que lhe sucedeu na função. Mas o Presidente Cavaco tinha também simpatia pela minha pessoa.
Logo que ocorreu a mudança na FCG, reuni com as associações, que até aí se consideravam excluídas e elas foram sensíveis, passaram a ser agentes mobilizadores de toda a envolvência de Guimarães. Referindo-me aos projetos concretizados, que acompanhei em pormenor, posso referir:
- A Casa da Memória não correu bem. Abrimos um concurso público para a conceção do projeto e ela foi atribuída à Sociedade Martins Sarmento apoiada pela Universidade do Minho representada pelo Professor Carlos Bernardo. Chegaram a deslocar-se ao Brasil para conhecerem um projeto inspirador e contrataram para a direção do que se pretendia uma socióloga brasileira Bia Lessa. Acreditei no profissionalismo da equipa responsável. Mas, passados meses, nada aparecia. Tínhamos adquirido a Fábrica “Pátria”, pela sua proximidade à Plataforma das Artes, para a criação de um eixo cultural expositivo que viesse a ser referência da atração turística da cidade.
- A Plataforma das Artes é um belo projeto de arquitetura e engenharia, que já recebeu prémios internacionais, foi concretizada nos prazos e com os orçamentos previstos, mas tem tido dificuldade na sua afirmação como polo importante da afirmação cultural da cidade. A meu ver sem aligeirar responsabilidades, tal tem a ver com o monopólio concedido à ocupação dos seus espaços expositivos com a obra de José de Guimarães. A capacidade do CAJG inovar, incluir outras obras, está completamente fechada. Pode inovar dentro apenas do espólio do artista, mas tal é muito limitativo. O espaço é de altíssima qualidade, tem todas as condições para albergar duas exposições anuais de grande dimensão, mas terá de ser alterado o acordo estabelecido e que já foi renovado depois de eu sair.
- A Orquestra Estúdio foi, penso eu, um dos grandes projetos que aliou a grande qualidade artística, a internacionalização da cidade porque levou à residência em Guimarães, durante um ano, de músicos de muitas partes do mundo, e que ganhou a população mesmo aqueles com menor sensibilidade pela cultura e pela música. O Maestro Rui Massena foi um dos grandes heróis da CEC e reconhecido pelos vimaranenses. Custou-nos muito a decidir avançar com ela, dado os custos que exigiu. Mas arriscamos e não me

arrependo. Penso até que podia ter continuado a ser uma âncora fundamental da afirmação cultural de Guimarães. O que estamos a gastar nos equipamentos e eventos poderia talvez ser canalizado para aí. No conjunto, a CEC foi um êxito europeu. Nunca uma cidade da nossa dimensão tinha conseguido um evento com esta expressão internacional. Fomos convidados a apresentar os resultados em várias cidades europeias e o aplauso e a admiração foram unânimes. Em Portugal, todos consideram que Guimarães foi a melhor CEC das três que já se concretizaram. Essa é também a opinião de Jorge Sampaio que era o presidente da Câmara quando Lisboa foi CEC. Quero também deixar assinalado que Jorge Sampaio, como Presidente do Conselho Geral da FCG, foi importantíssimo para o que alcançamos. Com a serenidade e a discrição que o carateriza, com a sua experiência e contactos nacionais e internacionais, muito nos ajudou. (…)”
A perpetuação do seu nome no Multiusos
A Câmara Municipal prestou uma primeira homenagem a António Magalhães, atribuindo o seu nome à Grande Nave do Pavilhão Multiusos, aprovado por unanimidade, na reunião de 29 de fevereiro de 2024. Terá uma primeira sinalização numa das obras mais estruturantes concretizadas nos seus mandatos e a que atribuiu mais carinho.
O Multiusos é inaugurado, em 2001, pelo primeiro-ministro António Guterres e é, até hoje, o centro de uma política desportiva, definida a partir de 1990 com o PID “Programa de Iniciação Desportiva” que gizava criar condições para a prática desportiva não competitiva da população, e gerida pela cooperativa “Tempo Livre”, que perfaz neste ano de 2024, 25 anos. O Multiusos foi a primeira grande sala polivalente de espetáculos do Norte, a seguir ao hoje, “Pavilhão Rosa Mota”, na cidade do Porto.

Aspeto geral da nave principal do Multiusos de Guimarães. Foto do Guimarães Digital

Cerimónia realizada em 2 de março de 2024, no âmbito do programa de celebração dos 25 anos da Tempo Livre, inaugurado em 17 de novembro de 2001, e no âmbito da qual António Magalhães foi homenageado

Atribuição do nome “António Magalhães” à nave onde está localizado o palco principal do Multiusos de Guimarães - foto do Guimarães digital


Recordações do euro 2004
Equipa redatorial
Já lá vão 20 anos que a 12.ª edição do Campeonato Europeu de Futebol, mais conhecido por Euro 2004, teve como palco Portugal, com a disputa de dois jogos em Guimarães, no Estádio D. Afonso Henriques.
Uma jornada que traria à cidade berço três dos quatro contendores do Grupo C, constituído pela Suécia, Dinamarca, Itália e Bulgária, que se saldaria pelo apuramento dos dois países nórdicos para a fase seguinte.

Com efeito, jogar-se-ia, em Guimarães, no sábado de 14 de junho o encontro Dinamarca-Itália, que terminaria com um empate a zero e ainda o Itália-Bulgária, a 22 de junho (domingo), que registaria uma vitória dos transalpinos por 2-1.
Mas, mais que a bola a correr na relva por parte das 16 equipas apuradas, o evento faria rolar no país mais de um milhão de forasteiros, mobilizar 20 mil voluntários e 10 mil jornalistas e concentrar frente aos televisores cerca de 850 milhões de telespectadores.
Igualmente, um acontecimento dispendioso, não isento de polémicas, que concomitantemente levaria à construção e/ou recuperação de 10 estádios, em 8 cidades do país: Aveiro, Braga, Coimbra, Guimarães, Leiria, Loulé, Porto e Lisboa.
Porém, o Euro 2004 não seria só um evento desportivo, que os membros do Comité Organizador considerariam que “nunca até à data, um campeonato europeu foi tão bem preparado e tão bem organizado”. De facto, o certame teve um impacto importante para além das 4 linhas do terreno de jogo, que, infelizmente, teve como aspeto negativo a derrota final de Portugal, frente à Grécia (0-1), no estádio da Luz, em Lisboa, em 4 de julho.
Portugal, porém, venceria o Euro-2016, em 10 de junho, frente ao país anfitrião, a França (1-0), no Stade Saint-Denis, com um golo emocionante de Éder e redimir-se-ia do desaire anterior.

Impactos e retornos
Realmente, após a atribuição do Euro 2004 a Portugal, decidido pela UEFA em 12 de outubro de 1999, muito se trabalhou para a sua concretização no terreno de jogo, quer diretamente quer indiretamente, com vista aos golos balizados, cujos impactos e retornos tiveram, na cidade-berço, gastos comedidos e resultados vantajosos.
Recorde-se que o Euro 2004 permitiu levar a cabo obras de requalificação na área envolvente ao Estádio D. Afonso Henriques e conduziu à sua recuperação, que, atempadamente, foi remodelado de forma a comportar 30.029 espectadores e a melhorar as suas estruturas, não obstante algumas dificuldades de percurso. Com efeito, em 2004, mercê do clima de instabilidade do Vitória, que inclusive levaria a solicitar a proteção sobrenatural e a “bênção” das instalações e do relvado por parte de Fernando Nogueira, conhecido pelo “bruxo de Fafe”, tendo em vista assegurar a manutenção na 1.ª liga, bem como devido à intervenção da Polícia Judiciária no clube e ainda a demissão do Presidente Pimenta Machado, que conduziria a posteriores eleições, vencidas por Vítor Magalhães, alguns quiproquós e situações de fora de jogo surgiriam com necessidade de recurso à arbitragem.
O Pregão Nicolino de 2004, de autoria de Rui Teixeira e Melo, como documento fidedigno dos anais vimaranenses, regista esses momentos:
“Do mundo da bola vem novidade grossa
Ungido que estava com tanta água benta
O Vitória quase desceu, a coisa fez mossa
Já no mês de Maio renunciou Pimenta
A revolta cresceu, o pessoal indignado
Aberta essa porta, abriu-se a sucessão.
Viu o Vitória muito mal classificado.
Foi um Deus nos acuda! Foi uma aflição
Mão divina salvou a queda de divisão,
Pimenta ao ver aquele plantel algo murcho
Decidiu contratar um infalível bruxo.
Parecia Cirilo homem de cadeirão, Rapidamente, em subversiva manobra, Aparece Almeida não renegando obra.

E de Moreira veio para Guimarães Com Manuel Machado, o Vítor Magalhães”.


De facto, um tempo difícil e de ânimos exaltados, que traria os vitorianos à rua em protesto pela decisão da Comissão Disciplinar da Liga mandar efetuar o jogo com o Sporting à porta fechada, na sequência dos incidentes do Paços de Ferreira-Vitória, que igualmente provocaria demissões e eleições e quase levava o Vitória à descida.
Deste modo, é neste contexto que a Sociedade Euro 2004 seria forçada a substituir o Vitória nas obras impostas pela UEFA que caberiam ao clube realizar, designadamente o rebaixamento dos bancos dos suplentes e a transformação da bancada VIP dos antigos lugares cativos num espaço específico para a comunicação social, obras que custariam cerca de 125 mil euros e que acabariam por ser descontadas ao clube no âmbito dos 200 mil euros atribuídos pelo aluguer do estádio.
Efetivamente, um processo dificultoso, que logo no início do ano se depararia com um parecer negativo da Procuradoria Geral da República (PGR) quanto ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo sobre a obtenção de fundos comunitários para remodelações do estádio. De facto, a PGR consideraria o processo “afetado de nulidade” pelo facto de a Câmara Municipal não poder ser titular do direito de propriedade, provocando alguma crispação entre a Câmara de Guimarães, presidida por António Magalhães, e Pimenta Machado, presidente do Vitória SC, que, em nome de Guimarães acabariam condenados ao entendimento.

Povo de Guimarães de 21 de maio, 2004
Mas para além do estádio, cuja remodelação e inauguração ocorreria antecipadamente em 25 de junho de 2003 e que lamentavelmente vivenciaria logo no início do ano, em 25 de janeiro de 2004, a morte no relvado do húngaro Miki Fehér, por paragem cardíaca, no decurso do jogo Vitória SC-Benfica, o Euro 2004 acarretaria muitas obras paralelas e complementares para além do espaço em jogo. Por exemplo, a nível de acessos, trouxe as benfeitorias na ferrovia, quer diretamente, como a modernização da linha, quer

indiretamente, como as obras de supressão das passagens de nível, quer em Covas quer na cidade, no nó do Castanheiro, que seria desnivelado. Ademais, a reconversão da linha de Guimarães transportou à colação a construção de novos acessos no cimo da Avenida D. João IV (que pretendiam fechar a Circular Sul, entre a rotunda e a Costa), proporcionou as ligações mais fluídas entre a Rua António da Costa Guimarães e a Rodovia de Covas, bem como o desnivelamento de interseção da circular urbana com a rodovia, através da construção da passagem superior e de um túnel.
De facto, as vias comunicacionais seriam uma prioridade que se traduziriam ainda na abertura da variante de Fafe e uma infinidade de arranjos urbanísticos em várias artérias da cidade.
As remodelações estender-se-iam ainda à estação da CP, em Guimarães, adaptadas parcialmente para instalar a equipa de trabalho que integraria o Gabinete Municipal do Euro 2004 e aos espaços de estacionamento que seriam aumentados em cerca de 5 mil lugares, quer para autocarros quer para viaturas ligeiras.
Uma logística que, a despeito do alojamento sobrelotado, seria ainda reforçado com a criação da unidade hoteleira Vila Hotel, na Avenida D. João IV, a reabertura recuperada do Hotel das Termas, nas Caldas das Taipas, bem como a inauguração da Pousada da Juventude, no Largo do Cidade. Serviços a que se acrescentaria a constituição de equipas de voluntariado diversas e a decoração da cidade com lonas gigantes em cinco línguas, bem como a abertura alargada do horário do Cybercentro, das nove horas à meia-noite, sempre lotado. Outrossim, a criação de um Plano de Emergência Externa para acorrer a casos de acidentes, incêndios urbanos ou outras emergências, que no contexto do Serviço de Proteção Civil se alargaria aos condicionamentos de trânsito e matérias afins.

Peça escultórica em ferro da autoria do artista plástico vimaranense Salgado Almeida, colocada na área verde junto ao estádio D. Afonso Henriques

Guimarães estava mobilizada taticamente e estrategicamente para todos os lances, ora defendendo ora

atacando todas as situações de jogo.
Assim, do ponto de vista social seriam ainda desocupadas as barracas na variante de Creixomil, instalando-se os seus ocupantes de etnia cigana em bairros sociais concelhios.
De igual modo, a nível cultural seriam empreendidas iniciativas significativas. Lembre-se, a propósito, as obras levadas a cabo no Museu Alberto Sampaio que criariam 5 novas salas temáticas e o lançamento da iniciativa “Guimarães à Noite”.
A cidade de Guimarães seria ainda incluída no projeto cinematográfico da Chiado Terrasse Filmes intitulado “Euro 2004 – um filme”, do realizador Rui Goulart, um documentário ficcionado que incidiria sobre o fenómeno do futebol e a sua representação sociológica.
De destacar ainda, a nível artístico e criativo, o trabalho do artista vimaranense Victor Costa, na decoração das bancadas do estádio e a escultura de J. Salgado Almeida, implantada no espaço exterior e contíguo.
Quanto ao programa de animação foram previstos 23 espetáculos (a maioria de rua), um desfile de moda, um espetáculo de dança, oito “workshops” e vários concertos, entre outros com os Rádio Macau, Delfins, Santos e Pecadores e Vitorino. Atividades que se estenderiam ainda à vertente desportiva, no Parque da Cidade e às crianças, com o Parque de Insufláveis.
O programa integraria ainda realizações do calendário cultural da cidade, como a Feira do Comer e o Festival Gil Vicente, nomeadamente a performance “Nicos”, inspirada em símbolos do teatro vicentino, que sob a responsabilidade do Teatro Oficina envolveria um elenco de cerca de 100 pessoas.
Fora de jogo
O convívio e animação desportiva correria toda a cidade, apesar das diferenças e emoções à flor da pele por todo o país e particularmente no estádio D. Afonso Henriques e no “Euródromo”. Com efeito, neste espaço instalado junto ao Multiusos, onde se encontrava implantado o painel gigante para assistência aos jogos, entre os quais os de Portugal, a festa da bola rolaria sem faltas de monta, praticamente sem recurso a cartões amarelos.
Efetivamente, a festa fora das bancadas e do retângulo do jogo, mas com olhos nas quatro linhas, contagiou o país e a cidade, como o citado Pregão de 2004 historia:
“O delírio chegou já alto Junho ia
O povo se juntou em grande euforia

E mesclando-se com esses dinamarqueses
Da sua simpatia ficaram fregueses.
A cada lua aquela Praça se encheu
De olhos postos no écran, no Europeu
Ai que saudade, oh meu povo, que beleza!
Eu ainda oiço o bradar da “Portuguesa”!”
As bandeiras nacionais nas janelas e varandas, bem como os jornais da época são elucidativos dessa onda de festa, que trouxeram até Guimarães enormes vagas nórdicas invasoras. Assim, parangonas como “Invasão Viking”, como titula o “Povo de Guimarães” de 18 de junho, são bem sugestivas, recordando por analogia as incursões deste povo ocorridas nos inícios do século XI, nas áreas do Douro e Ave, embora desta vez mais pacífico. Desta feita, obviamente, um assalto consentido que levou os vikings a subir o Ave com os pés na água e as mãos na cerveja e a brindar ao deus Odin, esgotando a cerveja no Centro Histórico, cujas muralhas agora se abriram, quando outrora foram erigidas para os suster.
De facto, como escreveria o citado jornal,
“Guimarães sentiu no último fim-de-semana e na passada segunda-feira a festa do futebol em todo o seu esplendor. Milhares de adeptos de futebol, em especial italianos e dinamarqueses (…) muito numerosos e ruidosos fizeram a festa e depois do embate conquistaram amigos e admiradores em Guimarães (…) num ambiente divertido e com muito fairplay à mistura, tanto antes como depois do jogo (…) Guimarães inundou-se do vermelho viking ponteado por alguns azzurri num momento de comunhão que dificilmente Guimarães verá repetida e de forma alguma esquecerá.

Povo de Guimarães de 18 de junho, 2004
O PG esteve à conversa com alguns adeptos italianos e dinamarqueses que gabaram a beleza da cidade e da hospitalidade dos vimaranenses”.
Seriam de facto inolvidáveis momentos e acontecimentos únicos…
Universidade do Minho: 50 anos!
Vítor Oliveira


Há 50 anos, em 17 de fevereiro de 1974, no Salão Medieval do Antigo Paço Arquiepiscopal de Braga, sede da Universidade do Minho, o Ministro da Educação Nacional, Professor José Veiga Simão, deu posse à Comissão Instaladora da Universidade e empossou o seu primeiro reitor, o Professor Carlos Lloyd Braga.
Estes atos assinalavam o início da atividade da Instituição, criada no quadro de um processo de transformação do ensino superior português, que nele deixaria marcas profundas; ocorriam pouco mais de seis meses passados desde a publicação, no Diário do Governo, do decreto-lei que criava a Universidade e aconteciam cerca de dois meses antes da revolução de 25 de abril, do “dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio”.
A revolução do 25 de abril de 1974, com todas as suas tensões e contradições, abriu caminho a profundas mudanças na sociedade portuguesa, com a liberdade e a democracia, e trouxe a paz, com o fim da guerra colonial; estas mudanças foram desenhando o pano de fundo do desenvolvimento do projeto da Universidade do Minho.
90 mil diplomas em meio século
Nos seus 50 anos de existência a UMinho atribuiu cerca de 90 mil diplomas, dando um contributo fundamental para a qualificação da população portuguesa e, em particular, da região Norte. Em 2021, a percentagem da população com mais de 15 anos da região do Cávado com ensino superior (20%) ultrapassou a percentagem nacional.
No entanto, a região do Ave, apesar de um progresso muito significativo nas últimas décadas – de 0,7% em 1981 para 14% em 2021 – continua ainda muito distante dos valores nacionais.
Um desafio para as próximas décadas será alcançar a convergência da escolaridade com a Europa em todas as regiões pertencentes aos territórios de influência da UMinho.
Para além do aumento da escolaridade da sua população, as universidades contribuem para o

desenvolvimento das regiões através da sua capacidade de atração de estudantes de elevado potencial de outras regiões.
Nas primeiras décadas, a origem dos estudantes estava muito concentrada nos distritos de Braga e Viana do Castelo. No entanto, a UMinho tem vindo a alargar cada vez mais a sua área geográfica de influência, incluindo a outros países. Por exemplo, em 2022-2023, estavam matriculados 2.521 estudantes internacionais (12% do total), provenientes de 92 países.
Como temos observado em Portugal, os fluxos migratórios podem reduzir o impacto do investimento em educação. Não basta melhorar a formação dos portugueses, é necessário criar uma economia com capacidade para absorver as novas qualificações que são geradas.
O contributo da Academia
A contribuição da UMinho para o aumento das qualificações, associada à sua capacidade de investigação e de gerar conhecimento e de o valorizar social e economicamente, teve um forte impacto no desenvolvimento da região Norte e do País.
Essa alteração refletiu-se no crescimento e convergência do PIB per capita para os níveis nacionais. Em 2021, o PIB per capita do Cávado (88% do PIB per capita nacional) ultrapassou o da região Norte e o da região do Ave atingiu 86%. A convergência registou-se também nos salários.
Em 1985, os salários médios das regiões do Ave e do Cávado, e também dos concelhos de Braga e de Guimarães, correspondiam a pouco mais de 40% do salário médio nacional. Nas décadas seguintes registouse uma forte convergência.
Esta alteração estrutural gerou as condições para a fixação na região de uma percentagem cada vez mais elevada de diplomados da UMinho. Por exemplo, do grupo dos diplomados até ao ano 2000, cerca de 30% estão fixados no distrito de Braga. Do grupo dos diplomados entre 2011 e 2020, cerca de 50% estão baseados no distrito de Braga.
Por outro lado, e confirmando a qualidade da formação da UMinho, uma percentagem mais elevada de diplomados desenvolve a sua atividade profissional no estrangeiro (11% dos diplomados até 2000 versus 18% dos diplomados entre 2011 e 2020). A rede social Linkedin registava 73 países com alumni da UMinho.

Mais de 20 mil estudantes
A Universidade tem hoje contratadas 1.637 pessoas, das quais 838 na carreira docente, 44 na carreira de investigação e 755 nas carreiras técnicas. Acrescem, a estes dados, 533 docentes convidados e 310 investigadores com contrato a termo certo. Os Serviços de Ação Social da UMinho (SASUM) têm ao seu serviço 244 trabalhadores.
Cinquenta anos depois da sua criação, distribuídos pelos seus campi em Guimarães e Braga, a Universidade do Minho tem inscritos cerca de 20.500 estudantes, entre os quais 7.800 estudantes de mestrado e 1.900 de doutoramento.
Estes estudantes frequentam 59 cursos de licenciatura, dois cursos de mestrado integrado, 122 cursos de mestrado e 59 cursos de doutoramento, geridos pelas nossas 12 escolas e institutos.
No âmbito dos cursos não conferentes de grau, a Universidade tem em curso a Aliança de Pós-Graduação, um programa constituído por 112 cursos de formação, concebidos e desenvolvidos em estreita colaboração com entidades empregadoras, públicas e privadas. A oferta de um conjunto significativo destes cursos permitiu diplomar, nos últimos dois anos, cerca de 1.000 adultos.
No âmbito do projeto “Universidade sem Fronteiras”, promovido conjuntamente pelas universidades públicas da Galiza e do Norte de Portugal, a Universidade do Minho participa no desenvolvimento dos cursos de mestrado em Desafios das Cidades e em Direito Transnacional da Empresa e Tecnologias Digitais e do doutoramento em Matemática e Aplicações.
No quadro das atividades da Aliança Europeia ARQUS, a UMinho colabora no projeto EDLab, cujo objetivo é promover programas de graduação conjuntos europeus e internacionais e a utilização do European Degree Label.
531 milhões de euros captados
A afirmação da UMinho como uma universidade de referência em várias áreas científicas tem sido essencial para a construção de redes de colaboração com a sociedade e a indústria, para participar na procura de soluções para os desafios sociais e económicos de médio e longo prazo.
Entre 2010 e 2022, os centros de investigação da UMinho estiveram envolvidos em 2.049 projetos de I&D, tendo captado 531 milhões de euros. Aqueles projetos envolveram 106 entidades financiadoras, sendo 47 internacionais e 42 privadas.

Os 2.049 projetos de I&D desenvolvidos entre 2010 e 2022 envolveram 679 empresas, 338 nacionais e 341 estrangeiras. Estes dados mostram, por um lado, um forte entrosamento com o tecido empresarial da região e do país e, por outro lado, um elevado nível de internacionalização.
A realização de parcerias com instituições públicas e privadas, nas suas muitas variantes – associações privadas sem fins lucrativos, Laboratórios Colaborativos ou fundações – tem sido uma das formas mais eficazes de alinhar a geração de conhecimento com os problemas da sociedade e da economia.
Em 2023, estavam ativas 55 Spin-offs da UMinho, estando 85% baseadas nos concelhos de Braga e de Guimarães. Em 2021, aquele grupo de empresas criadas por investigadores da UMinho empregava cerca de 300 colaboradores e registava um volume de negócios de cerca de 20 milhões de euros.
O desenvolvimento do ecossistema de inovação da UMinho, numa parceria estreita entre agências públicas e municípios e fundos de capital de risco, permitirá criar mais tecnologia de elevado valor económico a partir da investigação gerada nos centros de investigação.
No horizonte das próximas 5 décadas, quantos unicórnios poderão nascer na UMinho?
Em meio século de ensino superior em Guimarães, com a Universidade do Minho como referência, houve avanços e recuos que mudaram e continuam a mudar o território vimaranense. As primeiras instalações da Universidade do Minho em Guimarães ficaram situadas no Palácio Vila Flor, onde presentemente o domínio é agora da cultura e das artes performativas no agregado do Centro Cultural Vila Flor.
Ali bem perto, no quarteirão de Couros, a entrega do Teatro Jordão à Academia é um dos recentes marcos de meio século de vida universitária em Guimarães. Criada por um decreto-lei de 11 de agosto de 1973, ao qual se seguiu um intenso debate sobre a localização, a UMinho atinge os 14.000 estudantes em Braga e os 6 mil em Guimarães.
Ainda na área abrangente de Couros, há mais marcos por se cumprirem, como a requalificação da fábrica do Arquinho para a engenharia aeroespacial ou, já mais perto do campus de Azurém, a residência de Santa Luzia, lugar que já conheceu a universidade, tal como o Palácio Vila Flor.
O crescimento do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, já instalado no AvePark, fomenta um novo

eixo universitário do Multiusos de Guimarães à zona da Cruz de Pedra.
Até à entrada em funcionamento do polo de Azurém, os cursos de engenharia funcionaram no Palácio Vila Flor, recuperado em duas fases, com anexos para a têxtil e para a metalomecânica. As condições estavam, porém, longe de ser as ideais, numa cidade com um problema ainda mais agudo do que a carência de infraestruturas: a falta de “massa crítica”.
Como numa primeira fase, os cursos de engenharia se repartiam por Braga – os dois primeiros anos – e por Guimarães – os três seguintes –, os alunos fixavam-se no local onde iniciavam o percurso universitário, aplicando-se a mesma regra aos docentes. Quando terminou a comissão instaladora em 1981/82, a universidade tinha 1.400 alunos, sendo que 134 tinham aulas em Guimarães.

Reitor da UMinho entre 1985 e 1998, Sérgio Machado dos Santos recordou os autocarros com docentes e alunos que saíam de manhã para Guimarães e à tarde regressavam a Braga. Ou a residência “muito pequena” no centro da Cidade Berço para a qual não havia procura. “Os quartos sobravam”, memorizou.
Daí, gerou-se uma reflexão e subsequentes decisões que mudaram o curso de Guimarães como polo universitário, tomadas em 1987. “Os cursos que funcionarem em Guimarães têm de funcionar de raiz, desde o primeiro ano. Em Braga, também. Como o primeiro e o segundo ano das engenharias tinham mais aluno, Guimarães ganharia impulso”, descreveu.
As “sinergias” de algumas engenharias com a Escola de Ciências mantiveram-nas em Braga; foram os casos da biológica e da informática. Como contrapartida para Guimarães, criou-se logo o curso de engenharia

eletrónica e industrial e abriram-se as portas para cursos em articulação com a engenharia civil: um de arquitetura e um outro de geografia orientada para o planeamento.
Couros é a zona citadina de Guimarães mais a sul do Centro Histórico classificado. Em 1996, a Câmara de Guimarães iniciou a reabilitação deste núcleo industrial e, em 2001, nasceu o Complexo Multifuncional de Couros, com a inauguração do CyberCentro. Foi com o objetivo de reforçar a integração da UMinho na cidade que o Município e a Universidade desenvolveram o projeto Campurbis (2006 – 2012).
A intervenção e reabilitação do património imobiliário das antigas fábricas permitiram a criação de um novo espaço universitário – o campus de Couros – que, dada a sua localização em plena malha urbana, acentua os conceitos de campus virtual e de universidade sem muros, vinculados à missão e estratégia da UMinho.
Este campus tem já em funcionamento o Centro Avançado de Formação

Centro Pós-Gradução Avançada
Pós-Graduada – para acolher estudantes de mestrado e doutoramento e, também, a Licenciatura em Teatro; a Unidade Operacional da UNU em “e-gov” e o Instituto de Design – que acolhe a licenciatura em Design do Produto e onde, progressivamente, funcionarão outros cursos de especialização neste domínio.
O Centro de Ciência Viva de Guimarães é outra infraestrutura onde a Universidade do Minho está presente, num trabalho de cooperação com a autarquia vimaranense que resultou, recentemente, na recuperação do complexo do antigo Teatro Jordão e Garagem Avenida, inaugurados a 12 de fevereiro de 2022.
Esta mais recente aposta da relação institucional entre Câmara e Universidade permite alojar projetos universitários no domínio das artes performativas e visuais, salas de ensaio, assumindo-se como o campus da criatividade, aberto à interação entre a UMinho e a sociedade.

Campus de Azurém
Falar de Universidade do Minho em Guimarães é falar do campus de Azurém, sediado próximo do Centro Histórico da cidade. Neste polo, está instalada a Escola de Engenharia, e quase todos os seus cursos, mas também a Escola de Arquitetura e alguns cursos da Escola de Ciências e do Instituto de Ciências Sociais.
O campus de Azurém integra também o polo nacional de engenharia de polímeros. Este conhecimento especializado reúne o Departamento de Engenharia de Polímeros (DEP), o Instituto de Polímeros e Compósitos (IPC), centro de investigação, e o Polo de Inovação em Engenharia de Polímeros (PIEP), que se interligam para servir uma indústria nacional com cerca de 2.000 empresas de peças em plástico e 700 de moldes, mas também fabricantes estrangeiros.

TecMinho tem sede no campus de Azurém, Guimarães
As instalações que o DEP possui hoje em Azurém foram decisivas para a afirmação dos polímeros, assim como o crescente reconhecimento da indústria a partir de 1990, abrindo-se as portas a equipamentos com outra sofisticação. Em pleno século XXI, há “nomes sonantes” estrangeiros que requisitam a UMinho pelo seu know how. E as ligações com os industriais da área em Portugal são umbilicais, incluindo-se nesse lote as empresas Amtrol-Alfa e TMG Automotive, sediadas em Guimarães.
A engenharia de polímeros é uma das 18 licenciaturas – ou mestrados integrados no caso da EEUM –disponíveis em Azurém, num campus cuja primeira pedra foi colocada a 24 de novembro de 1985. Foi um marco de um processo moroso, com obstáculos à aquisição de terrenos, mais do que em Braga.
O reitor de então, Sérgio Machado dos Santos, lembra a “grande pressão para construção” no terreno entre o campus e o Castelo de Guimarães, que levou a Universidade do Minho a um esforço tremendo para o “adquirir”.
“Adquiriu-se por 180 mil contos (cerca de 900 mil euros) aquele terreno vazio para salvar a envolvente

do campus. Era muito dinheiro na altura. O campus foi por opção aberto à cidade”, lembrou, numa recente reportagem publicada no Jornal de Guimarães.
O emblemático “BA”
O granítico edifício que se destaca nas imediações do campus de Azurém é a sede da Associação Académica da Universidade do Minho (AAUM) em Guimarães, mas também é o Bar Académico (BA), inserido na rua de Francos, requalificada em 2018.
O espaço de diversão noturna para os estudantes universitários surgiu para constituir uma alternativa à noite vimaranense. É também ali que ensaiam as duas tunas da EEUM: a Tun’Obebes, feminina, e a Afonsina, masculina.

O campus de Azurém da Universidade do Minho tem, ainda, um conjunto de serviços tais como uma biblioteca geral e várias bibliotecas especializadas, além de uma cantina, um grill, três bares, um posto médico, um complexo desportivo e serviço de reprografia.
O campus de Gualtar representa o polo de maior dimensão da Universidade do Minho. Nele estão situadas as Escolas de Ciências, de Direito, de Psicologia, de Enfermagem, de Medicina, os Institutos de Ciências Sociais e Humanas, de Educação e de Letras e Ciências Humanas, e também parte da Escola de Engenharia.
Este campus possui, igualmente, um conjunto de serviços tais como uma biblioteca geral, e várias bibliotecas especializadas, uma cantina, um restaurante universitário, um grill, sete bares, um posto médico, um complexo desportivo e duas reprografias.

O ÚLTIMO ANO ANTES DO 50.º ANIVERSÁRIO DA UMINHO!
Ao longo de cinco décadas, houve vários momentos que assinalaram a História da Universidade do Minho. Mas o último ano, antes das comemorações do primeiro meio século, entram para a História da Academia, seguramente pela imensa quantidade de situações ocorridas em torno do simbólico aniversário. Aqui ficam alguns apontamentos ocorridos entre o período vivido do 49.º ao 50.º aniversário da UMinho.
Domínio da educação
Em 2023, foi criado o Programa de Desenvolvimento Global e de Integração Profissional dos estudantes da UMinho, com a participação de 1.250 estudantes, que inclui projetos de mentoria, workshops, conferências e visitas a entidades empregadoras, apostando no desenvolvimento integral e na promoção de competências transversais dos estudantes, como forma de promoção do sucesso académico e profissional.
A Universidade criou um programa piloto destinado a apoiar estudantes do 1.º ano com dificuldades académicas e a promover o seu sucesso; o projeto UMINHO4U permitiu aumentar a taxa de renovação de inscrições por estudantes inscritos no 1.º ano, 1.ª vez, em ciclos de estudo de formação inicial, em 2%, e o número médio de ECTS concluídos por estudantes inscritos no primeiro ano, 1.ª vez, em 0,9%.
Foram adicionalmente lançadas outras iniciativas com foco no sucesso dos estudantes, incluindo a instalação de novos equipamentos tecnológicos em 62 salas de aula, visando criar ambientes de aprendizagem digitalmente assistidos.
Antecipando os desafios da educação na era da inteligência artificial, foram organizados ao longo do ano vários debates nos campi para explorar o impacto de ferramentas baseadas em modelos de linguagem de última geração, fomentando o conhecimento sobre as mudanças em curso.
A Universidade, através dos seus serviços de Ação Social (SASUM) manteve o importante compromisso com a promoção da atividade física e do desporto que a tem caraterizado. Iniciativas como o Campeonato Europeu Universitário de Voleibol, a Semana Europeia do Desporto, e, sobretudo, a organização e acompanhamento do projeto desportivo de competição da Universidade, em articulação com a Associação Académica da Universidade do Minho, uma vez mais com excelentes resultados desportivos, são exemplos desse compromisso.

Investigação e inovação
No final de 2023, a Universidade tinha em curso 639 projetos de investigação e desenvolvimento, a que correspondia um financiamento global de cerca de 229 M€. Destes projetos, 97 eram projetos de inovação financiados pela ANI e AICEP, num valor aproximado de 31 M€, e 112 eram projetos europeus, com um orçamento da ordem dos 36,7 M€.
A produção científica da Universidade vem registando um crescimento consistente ao longo do último quinquénio, tendo a produção de autores afiliados à UMinho, indexada na Scopus, aumentado, neste período, em cerca de 15%. O livro Produção científica e académica da Universidade do Minho 1976-2022: Contributos para o seu estudo, publicado em 2023, por ocasião dos 20 anos do RepositóriUM - Repositório Institucional da Universidade, testemunha os grandes avanços da investigação científica que a Instituição conheceu.
No ano transato, a Universidade manteve o seu compromisso com os princípios da ciência aberta e com a reforma dos processos de avaliação da investigação, tendo aderido à CoARA - Coalition for Advancing Research Assessment.
Gestão de projetos de investigação
Foi promovida uma importante simplificação na tramitação dos processos de contratação de bolseiros de investigação e foram operacionalizados novos desenvolvimentos nas aplicações de gestão de projetos e gestão de verbas, que, entre outros aspetos, vieram simplificar os processos de aquisição de bens e serviços, reduzir os tempos de submissão dos pedidos de pagamento às entidades financiadoras e simplificar os processos com vista à restituição do IVA em projetos de investigação.
A UMinho participa presentemente em 18 agendas mobilizadoras, lideradas pelas mais importantes empresas nacionais dos diferentes setores, cabendo-lhe um orçamento da ordem dos 38 M€; estas agendas estão já a ter um notável impacto na transformação da economia da região e do País, designadamente nos domínios da fabricação aditiva e produção, mobilidade, construção, bioeconomia azul, alimentação, saúde, têxtil, espaço e energia.
A parceria UMinho/Bosch entrou na sua quarta fase, com o desenvolvimento dos projetos Next Sense e Connected Manufacturing; no âmbito dos grandes projetos de investigação e desenvolvimento destacam-se também os que têm como parceiros a Sonae Arauco (Advanced Decision Making in Productive Systems

through Intelligence Networks) e a Continental (Factory of the Future).
Com o objetivo de promover sinergias entre as interfaces tecnológicas da Universidade, foi criado o Fórum dos Centros de Tecnologia e Inovação da UMinho e elaborado o relatório Entidades Participadas da Universidade do Minho - Análise de Diagnóstico.
Perspetivando o reforço do ecossistema de investigação e inovação da UMinho, procedeu-se à definição dos referenciais institucionais em que assentará a estratégia da Universidade do Minho para reforçar as suas carreiras de investigação.
O Prémio UMinho de Iniciação na Investigação Científica, criado com o objetivo de promover o gosto pela investigação e a iniciação precoce no processo de construção de conhecimento científico dos estudantes de licenciatura, teve mais uma edição, envolvendo ativamente 18 centros de investigação da Universidade.
A realização do I Congresso Inteligência Artificial & Sustentabilidade, que contou com a participação de estudantes, professores e investigadores de escolas secundárias e da Universidade, serviu a apresentação de projetos conjuntos, que permitiram envolver os mais jovens nas práticas de comunidades científicas.
Interação com a sociedade
A atividade cultural promovida pela Universidade tem particular importância. O espetáculo de encerramento das comemorações do Centenário da escritora Maria Ondina Braga, que teve lugar no Theatro Circo de Braga, a exposição “Pelo olhar… Obras da Coleção do Museu Nogueira da Silva”, patente na Galeria do Paço entre os meses de Julho e Agosto, bem como as exposições dos Encontros da Imagem – Festival Internacional de Fotografia e Artes Visuais foram momentos particularmente significativos.
A inauguração de mais duas Casas do Conhecimento, na Trofa e na Ponte da Barca, veio reforçar a presença da UMinho no território. Em 2023, foi elaborado um projeto de reabilitação do Museu Nogueira da Silva, que contempla a construção de uma área destinada a acondicionar reservas de coleções museológicas pertencentes ao património da Universidade ou a entidades externas.
Também para Galeria do Paço foi desenvolvido um projeto que visa a sua renovação, dotando os seus espaços dos requisitos necessários ao acolhimento de exposições de âmbito nacional e internacional.
Trabalhos em rede
A participação da Universidade na Aliança Europeia ARQUS vem mobilizando um crescente número de

membros da Universidade em torno de iniciativas e projetos de educação, investigação e interação com a sociedade, constituindo, hoje, a ARQUS um elemento fundamental da estratégia institucional de internacionalização.
A Universidade esteve particularmente ativa em várias redes internacionais de universidades, tendo assumido, em 2023, a presidência do Grupo Tordesilhas e do Grupo Compostela de Universidades. Manteve também um grande envolvimento na Associação Europeia de Universidades (EUA), intervindo designadamente ao nível do Research and Innovation Strategy Group, do Learning and Teaching Steering Committee e do Expert Group on Open Science.
Visando o reforço da mobilidade internacional dos membros da comunidade académica, teve lugar a 1ª Edição do Global Mobility Forum, que contou com testemunhos de mobilidade de docentes, investigadores e estudantes da Universidade nos diferentes continentes.
Transformação organizacional
Em 2023, foram concretizadas medidas relevantes ao nível do planeamento, organização e controlo, com destaque para a valorização do QUAR UMinho enquanto instrumento vital para o planeamento e controlo estratégico da Instituição, e para a abertura do novo biénio da avaliação de desempenho dos trabalhadores técnicos, administrativos e de gestão, com medidas de monitorização mais regulares, mais próximas e com maior rigor, procurando trazer mais transparência e justiça ao processo.
A crescente necessidade de modernização das diferentes plataformas de gestão, aliada à rápida e constante inovação tecnológica e à dificuldade em reter recursos humanos especializados capazes de concretizar tal modernização, determinaram a adoção de uma nova estratégia para as tecnologias e sistemas de informação que passa pela externalização de serviços, através da aquisição dos sistemas de informação na modalidade software-as-a-service, com alojamento cloud. São exemplos desta estratégia a migração, já realizada, do serviço de e-mail da Universidade e a migração, em curso, da plataforma educacional Blackboard.
Neste domínio, foram ainda lançados dois outros projetos, de grande relevância para o futuro da Instituição: a criação de uma plataforma digital de aprendizagens autónomas, que visa contribuir para a promoção de uma cultura organizacional partilhada por todos os corpos da Universidade; o desenvolvimento do UMinho Hub, a ser operacionalizado ao longo de 2024, o qual, através da utilização das mais recentes soluções tecnológicas, permitirá modernizar os serviços de atendimento da Universidade, por canais

convencionais e digitais, a todos os públicos, internos e externos, com especial enfoque nos estudantes.
Os SASUM finalizaram, em 2023, o projeto POCER-SAS, que permitiu transformar processos operacionais nos serviços de alimentação, alojamento, apoio médico e desporto, nas relações com os utentes e na gestão dos próprios Serviços. Entrou também em funcionamento pleno o Portal do Trabalhador, que veio permitir uma gestão mais eficiente dos recursos humanos.
As atividades de comunicação da Universidade com os seus membros e as entidades e públicos externos são hoje particularmente relevantes para a concretização da missão da Instituição. Neste quadro, a Universidade desenvolveu, em 2023, um conjunto de iniciativas em que se destacam: a criação da Comissão Coordenadora de Comunicação, participada por todas as unidades orgânicas; a consolidação da estratégia de comunicação com o público pré-universitário, através de programas como a UPA – Universidade de Portas Abertas, o Verão no Campus e o VEM – Vamos Experimentar a UMinho; o estreitamento de relações com as direções de agrupamentos de escolas e autarquias da região.
Neste âmbito, as iniciativas da Universidade atingiram mais de 200 escolas secundárias e interações com cerca de 150 entidades do ecossistema escolar, alcançando cerca de 20.000 potenciais estudantes. Sobre o alcance destas iniciativas, registe-se que 60% dos estudantes que participam no Verão no Campus ingressam na UMinho.
Em 2023, foi levado a cabo um trabalho de redefinição da estratégia de comunicação de ciência da UMinho, em estreita colaboração com os centros de investigação, que incluiu, entre outros aspetos, a construção de uma bolsa de especialistas para a relação com a imprensa e a definição de um plano de formação em comunicação para investigadores e técnicos superiores de ciência e tecnologia.
Organização interna
Ao longo do ano de 2023, a Universidade teve em desenvolvimento projetos de grande impacto nas formas de organização e funcionamento institucionais. Em janeiro foi submetida ao Conselho Geral uma proposta de revisão dos Estatutos da Universidade, visando reforçar a autonomia e a responsabilidade das unidades orgânicas e aumentar a flexibilidade organizacional face a novos desafios que confrontam a Instituição.
Ao nível do desenvolvimento dos recursos humanos, no quadro estabelecido pelo Decreto-Lei n.º

112/2021, a Universidade colocou em concurso 79 posições de professor associado, 17 de professor catedrático e 7 de investigador auxiliar.
Ao longo do ano foram contratados 4 novos professores catedráticos, 49 novos professores associados e 7 investigadores auxiliares de carreira. Foram celebrados contratos pela Universidade com 29 trabalhadores técnicos, administrativos e de gestão, com contratos por tempo indeterminado.
A Universidade do Minho executou, em 2023, um orçamento de 185 M€. Consolidou-se, no plano da conceção e da execução orçamental, o princípio dos orçamentos por unidade orgânica, que veio criar novas condições para um exercício económico mais previsível e mais estável por parte das unidades orgânicas da Universidade. O orçamento dos SASUM foi de 9 M€.
Infraestruturas
Cabe destacar, em 2023, a inauguração, no AvePark, do edifício que acolhe o Tissue Engineering and Regenerative Medicine Research Hub da UMinho; o edifício, que se articula com o edifício do Grupo 3B's, concretiza o maior projeto aprovado no Roteiro Estratégico de Infraestruturas Científicas Nacionais, com financiamento da CCDR-N, da FCT e do Município de Guimarães.
Também em 2023, foi instalado, no campus de Azurém, o supercomputador Deucalion, infraestrutura da rede científica nacional. Teve início o processo de concretização da nova residência de estudantes de Santa Luzia, em Guimarães, que terá capacidade para 150 camas e dará resposta à premente necessidade de alojamento da comunidade estudantil.
Foram, no período, desencadeados 14 procedimentos de contratação pública, maioritariamente empreitadas, financiadas pelo PRR, num valor superior a 2,3 M€, já em fase de execução e com conclusão prevista até ao final de 2024.
Ao longo de 2023, foram múltiplas as iniciativas associadas à comemoração dos 50 anos da Universidade, no cumprimento do Programa de Comemorações apresentado em 17 de fevereiro de 2023. Iniciativas artísticas, culturais, científicas, editoriais, desportivas e ambientais preencheram o nosso ano passado e mantiveram vivo, em permanência, este tempo de comemoração.

Marcelo Rebelo de Sousa:
“A UMinho coloca o seu conhecimento ao serviço da comunidade e do mundo”

2024 é um ano especial, em que celebramos os 50 anos da revolução de abril, e também da tomada de posse da Comissão Instaladora da Universidade do Minho. Que longo caminho percorreu a sociedade Portuguesa até aqui chegar, e que longo caminho foi feito pelas Instituições do Ensino Superior.
A Universidade do Minho certamente contribuiu para mudar o panorama nacional. Dividida entre as cidades de Braga e Guimarães, soube-se inserir neste território, participando ativamente no tecido social e empresarial, aumentando a qualificação dos seus habitantes, e rejuvenescendo a população desta região.
Uma descrição da Universidade do Minho não ficaria completa sem indicar a palavra inovação - aliada ao retorno financeiro -, e, por conseguinte, a sua ligação a empresas multinacionais, como por exemplo a Bosch, e ao desenvolvimento de patentes, tendo sido o ano passado a instituição nacional com mais pedidos de patentes, segundo o “Barómetro Inventa 2023”.
Aliado a tudo isto, a Universidade do Minho soube escutar os desejos dos jovens Portugueses, criando novas licenciaturas que vão de encontro às suas ambições e sonhos, ao mesmo tempo que cria conhecimento em áreas que dão resposta a grandes desafios societais, como fogos florestais, poluição atmosférica, ligação Espaço-Oceanos, e gestão sustentável do território, entre outros.
Uma data especial
É também no desafio da sustentabilidade que a Universidade do Minho dá cartas; no ano passado foi a

melhor instituição portuguesa no “UI GreenMetric World University Rankings”, que avalia o desempenho das instituições de ensino superior relativamente à sustentabilidade. Um exemplo de boas práticas a seguir, tanto a nível nacional, como internacional, e que nos deixa a todos cheio de orgulho.
As Instituições de Ensino Superior são locais de ensino e investigação, mas também de serviço à comunidade, e onde os nossos jovens ganham uma nova visão do país e do mundo, dos seus direitos, mas também dos seus deveres.
É por isso que uma Instituição do Ensino Superior como a Universidade do Minho, ao liderar para boas práticas em termos de sustentabilidade, contribui para formar pessoas responsáveis, solidárias, que colocam o seu conhecimento, talento e ações ao serviço da comunidade local e do mundo.
Aqui chegados, urge olhar para o futuro, com a consciência plena que este se constrói todos os dias, e que não é algo distante. Se queremos ter instituições de Ensino Superior de excelência temos de prestar atenção à realidade atual.
A lista de requisitos é extensa e urgente: rejuvenescer o pessoal docente para dar resposta à precariedade e ao envelhecimento dos quadros, mais e diverso financiamento (público e privado) para se conseguir competir a nível internacional em termos de investigação e de equipamentos, disponibilizar habitação condigna para dar resposta à falta de alojamento (experienciado pelos estudantes do Ensino Superior nacional e por toda a sociedade Portuguesa), e finalmente, é preciso reforçar a autonomia das Instituições do Ensino Superior.
Aniversários são tempos de celebração, e de introspeção sobre o que se fez. Os 50 anos da Universidade do Minho são tudo isto. Quero por isso felicitar, todos, por esta data tão especial, toda a comunidade desta Universidade, relembrando que agora é tempo de novos sonhos sobre o que se pretende fazer no novo ciclo que se inicia, de forma a se alcançar todos os objetivos futuros.
Ou nas palavras de Mia Couto: “O que faz andar a estrada? É o sonho. Enquanto a gente sonhar a estrada permanecerá viva. É para isso que servem os caminhos, para nos fazerem parentes do futuro”.
Marcelo Rebelo de Sousa

Presidente da República de Portugal
Fernando Alexandre - Ministro da Educação, Ciência e Inovação, ex-Presidente da Escola da Economia e Gestão da UMinho:

“A UMinho permitiu a muitas famílias a possibilidade de sonhar mais alto”

Nas últimas cinco décadas, as instituições de ensino superior foram os principais agentes de transformação e de desenvolvimento económico-social das regiões. Os casos de maior sucesso são aqueles em que os municípios foram capazes de desenhar e promover estratégias de desenvolvimento numa relação próxima e alinhada com as universidades e os politécnicos.
A relação entre a Universidade do Minho e a região envolvente confirma, como nenhuma outra, aquele poder transformador. Em 1973, aquando da criação das universidades novas, foi fixado o objetivo de convergência nacional com a Europa em termos da percentagem da população, entre os 18 e os 24 anos, com ensino superior.
O contributo da UMinho para o aumento da escolaridade dos portugueses foi notável, sobretudo se tivermos em conta os baixos níveis de escolaridade da região Norte e do Minho, que eram muito inferiores à média nacional.
A implantação dos campi da UMinho em Braga e em Guimarães, bem como o alargamento do âmbito da ação social, abriu a possibilidade de acesso ao ensino universitário a dezenas de milhares de famílias, cuja condição económico-social não lhes permitia até essa altura sonhar com a conclusão de um curso superior.
A UMinho estendeu a muitas famílias a possibilidade de sonhar e de sonhar mais alto. A persistência do atraso é ainda visível nas estatísticas da escolaridade dos pais dos atuais alunos da UMinho. Em 2022, ambos os pais de 21% dos estudantes da UMinho não tinham concluído o 9.º ano, e ambos os pais de 39% não tinham concluído o ensino secundário.
Apenas 17% dos estudantes tinham ambos os pais com o ensino superior. Sabendo a importância que o meio socioeconómico tem para os resultados escolares, ao longo das suas 5 décadas de existência, a UMinho

desenhou estratégias de ensino de aprendizagem que permitissem o desenvolvimento das competências essenciais para uma integração bem-sucedida no mercado de trabalho nacional e internacional.
O impacto da passagem pela UMinho resultou num acréscimo das competências dos alunos, que pode ser aferido pela diferença entre a sua origem socioeconómica e as posições profissionais que alcançaram. Os dados relativos à integração dos diplomados no mercado de trabalhos comprovam o sucesso alcançado nessa dimensão.
Nas próximas 5 décadas, os estudantes da UMinho vão ser muito diferentes porque vão ter acesso a novas tecnologias e a novas formas de ensino-aprendizagem, desde o ensino pré-escolar. A UMinho terá de acompanhar essa mudança e fazer parte dela. A Inteligência Artificial poderá permitir tutorias personalizadas ou libertar os professores da parte mais maçadora do seu trabalho, as avaliações. O digital estará cada vez mais presente na sala de aula.
O desafio da UMinho para as próximas 5 décadas é ser parte ativa na construção e implementação de uma estratégia que permita uma convergência dos indicadores económicos e sociais, em particular, das regiões do Ave e do Cávado com a União Europeia.
Para além da sua contribuição para o capital humano da região e do país, a UMinho tem-se também destacado pela qualidade da sua investigação, contribuindo para o avanço da fronteira do conhecimento em diversas áreas e para o desenvolvimento de novas tecnologias.
Alcançada a convergência na frequência do ensino superior pelos jovens, o desafio que hoje se coloca a Portugal é posicionar as suas universidades entre as melhores da Europa e do mundo. A afirmação de uma economia baseada nas qualificações, no conhecimento e na inovação requer universidades que se posicionam na primeira linha da geração de conhecimento científico.
Embora, globalmente, a UMinho se encontre ainda muito longe dos lugares cimeiros, áreas como a Engenharia Civil ou Ciências e Tecnologias Alimentares têm conseguido posicionar-se consistentemente entre as 100 melhores do mundo no Ranking de Shanghai.
Um dos desafios da UMinho nas próximas 5 décadas será melhorar a posição daquelas e de outras áreas e afirmá-las internacionalmente entre as 100 melhores a nível mundial, fomentando um ambiente que lhe permita ter investigadores que figurem nas listas para a atribuição do prémio Nobel.
Rui Vieira de Castro - Reitor da Universidade do Minho:

“Pensar o futuro da Universidade do Minho”

Ao celebrarmos os seus 50 anos, impõe-se, antes de tudo, recordar, reconhecer e agradecer o trabalho de todos os docentes, investigadores, estudantes e trabalhadores técnicos, administrativos e de gestão que colocaram a sua inteligência e energia ao serviço da Instituição; e também das pessoas externas à comunidade académica e das muitas entidades, públicas e privadas, dos mais diversos setores, que tomaram o projeto da Universidade como seu e que a ele foram dando relevantes contributos.
Há 50 anos, nas palavras que proferiu no Salão Medieval, que um dos principais jornais da cidade caracterizou, com justiça, como um “notável discurso”, o Professor Veiga Simão exprimiu a sua visão para a Universidade do Minho; destacou as características que fariam da nova universidade uma universidade nova nos planos organizacional, científico e pedagógico e valorizou a adoção de uma estrutura de saberes correspondente a uma universidade completa.
Na primeira destas dimensões sobrelevou a “renovação do (…) sistema de aprendizagem, já que as universidades devem ensinar ‘a saber realizar’, criar o sentido da obrigação de ‘fazer’, ‘permitir’ e ‘saber procurar’ e (…) sobretudo ‘saber criar’ e ‘saber renovar’”. Na segunda dimensão, valorizou um perfil institucional que contemplava as artes e as letras, as ciências sociais, as ciências puras, as ciências aplicadas e tecnologia, em linha com documentos preparatórios da criação da Universidade em que se previam ainda, entre outras áreas, o direito e a medicina.
A criação das “universidades novas” assume como objetivo “assegurar o desenvolvimento social e económico do País”. Neste enquadramento, o projeto da Universidade, na sua génese, adota as seguintes orientações: uma Universidade participante na e aberta à sociedade; uma Universidade promotora do

desenvolvimento social; uma Universidade capaz de assegurar a qualificação de alto nível em distintas áreas de formação; uma Universidade orientada para a geração de conhecimento novo; uma Universidade dotada de uma estrutura organizacional “recetiva à inovação e maleável à mudança” e capaz de assegurar o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis.
Foi sobre esta base concetual que se desenvolveu a Universidade do Minho. E importa reconhecer que, se atendermos aos Estatutos da Universidade, nas suas sucessivas formulações, ou aos discursos mais importantes proferidos pelos responsáveis máximos da Instituição ao longo da sua história (agora recolhidos na obra Os discursos dos Reitores, publicada pela UMinho Editora), é notável a permanência deste referencial, arrojado, inovador e desafiante, definido no alvor da Universidade. Um referencial que está na base de um projeto cuja identidade e coerência é inquestionável; e que está também na base do seu reconhecido sucesso.
A celebração dos 50 anos da Universidade do Minho ganha sentido acrescido quando, à recordação daquilo que realizámos, se junta um olhar crítico sobre o presente e projeções sobre o futuro, revitalizando o projeto institucional. Pensar o futuro da Universidade do Minho é algo que não pode ser feito no desconhecimento de tendências que reconhecemos nos setores do ensino superior e da investigação em Portugal, entre as quais:
- a valorização social do ensino superior, visível no alargamento da base social que o suporta;
- a expansão e complexificação do sistema científico e tecnológico, assente também na profissionalização dos investigadores;
- um cada vez maior impacto das universidades no tecido social, económico e cultural, através de projetos de inovação;
- a crescente internacionalização do ensino superior e da investigação científica;
- uma maior estabilidade e previsibilidade no financiamento estatal das instituições.
O aprofundamento destas tendências confronta-se, porém, com diversos desafios. O financiamento do ensino superior público continua a ser insuficiente. Nas duas últimas legislaturas, foi adotada a figura do contrato de legislatura, que introduziu estabilidade e previsibilidade nas relações entre o Governo e as IES. Foi uma experiência que importa aprofundar no futuro, com base numa clara assunção de responsabilidades

pelos parceiros.
Neste cenário, é imperativo resolver desequilíbrios que permanecem no financiamento das instituições de ensino superior, que as priva, e priva mais algumas mais do que outras, de condições para promoverem um planeamento e desenvolvimento estratégico adequados.
Nos dois últimos anos foram tomadas medidas corretivas que devem ser prosseguidas, tendo sido iniciado um processo que, esperamos, virá pôr cobro, num prazo curto, à situação de iniquidade de que a Universidade do Minho, por mais de uma década, foi vítima maior, com impactos sérios na renovação do corpo docente ou na conservação das infraestruturas físicas, tecnológicas e pedagógicas, que muito afetaram o desempenho da Universidade.
Persistem graves dificuldades para muitos estudantes no acesso e na frequência do ensino superior, com uma resposta da ação social escolar que, tendo melhorado, está ainda longe de prevenir suficientemente fenómenos graves de abandono e insucesso. O País deve orgulhar-se do que conseguiu nas taxas de cobertura do ensino superior; no entanto, quando analisamos o problema do alojamento dos estudantes, percebemos que permanecem fragilidades que podem afastar muitos jovens do ensino superior.
As universidades são as instituições que, no nosso País, mais contribuem para o desenvolvimento científico. Portugal tem hoje um corpo de investigadores de grande qualidade, sobre o qual assentou em larga medida o crescimento notável que o setor conheceu; se é verdade que a profissionalização dos investigadores tem dado passos no sentido certo, que importa elogiar, enfrenta ainda dois importantes desafios: a estabilização dos contratos destes profissionais, condição importante para uma duradoura consolidação do sistema científico, e a criação de condições para um exercício efetivo e pleno da atividade científica, através de programas ambiciosos de fomento da investigação.
Perfil de Universidade
Medidas recentemente adotadas, como o programa FCT-Tenure e o estímulo previsto na Lei de Orçamento do Estado à contratação de investigadores, teriam tido melhores condições de sucesso se tivessem sido melhor planeadas e lançadas em interação mais estreita com as IES.
O envolvimento das universidades em programas de promoção da inovação económica e social, que tem conhecido significativo sucesso e que, recentemente, teve importante expressão nas agendas mobilizadoras do PRR, é feito num quadro em que a percentagem do PIB alocada a atividades de I&D continua longe

das metas que Portugal fixou, em que o número de doutorados em outras entidades empregadoras que não instituições científicas é manifestamente baixo, em que o funcionamento das agências financiadoras da investigação e inovação continua a colocar as Instituições frequentemente em dificuldades.
Com consciência destes desafios, que perfil de Universidade assumimos para o futuro? A nossa resposta, aqui necessariamente sintética, é a de uma Universidade que:
- assegura uma educação superior transformadora, socialmente reconhecida, com projetos educativos inovadores, num amplo número de áreas de formação, visando diferentes públicos, valorizando a educação ao longo da vida e assumindo a educação integral das pessoas como objetivo;
- promove investigação científica de alto nível, assegurando o alargamento das fronteiras do conhecimento humano em todas as áreas, adotando os princípios da ciência aberta, e induzindo processos de inovação na sociedade e na economia;
- participa no desenvolvimento cultural, social e económico das pessoas, dos territórios e do país, através de projetos desenvolvidos em redes colaborativas com entidades públicas e privadas, contribuindo para a construção de uma sociedade mais desenvolvida, mais justa e mais sustentável;
- valoriza a cooperação académica internacional, sobretudo no quadro do Espaço Europeu do Ensino Superior e da CPLP, e participa ativamente em redes internacionais de universidades;
- tem qualidade institucional, com processos administrativos simplificados, suportados por infraestruturas tecnológicas de qualidade, e que aposta no desenvolvimento profissional de todos os seus trabalhadores;
- assegura qualidade de vida às pessoas que nela trabalham, cria bons ambientes de trabalho e promove práticas inclusivas e de sustentabilidade ambiental, sendo dotada de infraestruturas de qualidade;
- adota formas de organização flexíveis, com efetiva capacidade de adaptação e de intervenção num contexto que se transforma muito rapidamente.
- é financeiramente sustentável, com fontes de financiamento diversificadas e com elevados níveis de eficiência.
Esta é a visão que assumimos para a Universidade do Minho. Uma visão ancorada num diagnóstico das nossas capacidades, uma visão mobilizadora, uma visão ambiciosa. Conhecemos o que a sociedade espera de nós e queremos responder às expetativas que sobre nós são projetadas.
Saberemos para tal, como soubemos até aqui, construir as alianças necessárias; porque reconhecemos que as nossas forças provêm em larga medida das redes de relações colaborativas que, em torno de projetos

de educação superior, de investigação e inovação, soubemos construir com entidades do sistema educativo, do sistema de saúde, do sistema de justiça, com empresas e outras entidades privadas e com entidades públicas, com destaque para os municípios.
Sabemos, também, que esta visão tem de ser concretizada num tempo que não é risonho. Estamos conscientes das ameaças que hoje impendem sobre a humanidade, em resultado de uma continuada prática predadora do planeta.
Olhando o que se passa à nossa volta, com a trágica consolidação de estados de guerra, é impossível não olharmos de forma apreensiva para o futuro que se apresenta perante nós; e é impossível não nos revermos no espanto horrorizado do “anjo novo” de Paul Klee quando, na leitura de W. Benjamin, apanhado no vórtice da história, vê retrospetivamente os destroços que esta vai deixando.
Apesar dos extraordinários avanços científicos e tecnológicos, em muitos lugares do nosso planeta, a dignidade humana continua a ser espezinhada, a exploração das pessoas parece não conhecer limites, os direitos humanos são tão só ficção.
As sociedades “ocidentais” estão atravessadas por tensões profundas, por lógicas de polarização e movimentos de radicalização que vão desagregando os espaços de conversação e vão demolindo as instâncias de mediação.
Nesta circunstância, de existência de um mal-estar socialmente generalizado, os riscos que as democracias liberais correm são, hoje, bem reais, como resulta da expressão social e política que vão tendo projetos de sociedade que põem em causa os seus fundamentos.
Nestas circunstâncias, cabe às universidades afirmar e comprovar a sua relevância para a construção de um país mais desenvolvido e mais justo, de uma sociedade mais democrática e mais coesa, e de uma vida mais digna para todos os Portugueses; em síntese, a sua relevância para a construção de um Portugal em que se vejam cumpridas as expectativas que, com o 25 de abril, construímos socialmente.
Infelizmente, o papel transformador das universidades nem sempre é reconhecido de forma consequente, ficando-se, muitas vezes, esse reconhecimento por exercícios discursivos, sem correspondência em opções, responsabilidades e medidas concretas.
Por ocasião da Convenção Nacional do Ensino Superior, promovida pelo CRUP em 2019, o Senhor Presidente da República colocou com grande frontalidade uma pergunta crucial que, desde então, vem ganhando pertinência acrescida: o País, os governos, os partidos políticos querem ou não querem que o ensino superior

seja uma área estratégica prioritária para o desenvolvimento do País?
Esta pergunta necessita de uma resposta clara, que seja expressão de uma responsabilidade coletiva. Uma resposta que valorize a história e o presente das universidades será certamente um importante estímulo para continuarmos, na Universidade do Minho, o trabalho que vimos fazendo em prol das pessoas, da região e do País.

Domingos Bragança - Presidente da CM Guimarães:
“Guimarães afirma-se como Cidade Universitária”
A Reforma do Ensino Superior protagonizada por Veiga Simão, Ministro da Educação Nacional, nos alvores dos anos 70 do século passado, perspetivava um “novo caminho” na educação em Portugal, apesar das resistências corporativas e de uma forte apetência conservadora que tinha como objetivo perpetuar o status quo.
Estávamos perante a urgência da criação de novas universidades no país e era possível falar-se numa abertura, que a discussão que se gerava no seio das instâncias de poder fazia antever.
Tendo por objetivo a democratização regional da educação, a reforma prometia a expansão da universidade, fazendo com que os círculos de poder locais reclamassem para o seu território, a favor do qual gastavam os epítetos mais elogiosos, esse privilégio há muito desejado.
A proposta de reforma previa para Braga um ambicioso projeto, com Guimarães a receber alguns cursos, como os de Engenharia Têxtil, Eletricidade e Estética Industrial. De acordo com a historiografia, Guimarães estava apostada num cenário de paridade, tendo sido o Deputado da Nação Duarte do Amaral um dos seus mais destacados protagonistas, uma vez que, e segundo ele, o peso histórico de Guimarães, no contexto

nacional, assim o exigiria.
Poderia continuar a percorrer alguns dos factos da história da fundação e criação da Universidade do Minho, mas, saltando alguns blocos temporais, eis-nos chegados ao estabelecimento e distribuição da Universidade por dois polos universitários, Braga e Guimarães.
Este facto foi o responsável pela atribuição ao ministro Veiga Simão, em 1974, do título de Cidadão honorário do Berço da Nacionalidade. O alargamento territorial da oferta de ensino superior mostrou ser não apenas uma decisão acertada, como a única capaz de permitir impacto regional, criação de escala, poder de atratividade.
A Universidade do Minho afirmou-se como muito mais do que uma instituição de ensino superior, constituindo-se como um agente de transformação na região, moldando-a positivamente e desempenhando um papel integral no seu crescimento e desenvolvimento.
Na atualidade, e no plano do desenvolvimento do território vimaranense, que tem como pilares a Educação, a Cultura e a Ciência, a Universidade do Minho é imprescindível e o seu ativo mais importante, sendo a relação de colaboração institucional que estabelece com o Município de Guimarães um exemplo de como convergir numa ideia de desenvolvimento integrado, tão plural quanto estratégica, tão pragmática quanto ambiciosa.
É esta convergência, convictamente cultivada pelos seus responsáveis, que tem permitido que Guimarães se afirme, gradual e sustentadamente, como Cidade Universitária, como Cidade de Ciência.
Plataforma Regional de Especialização Inteligente
Para a construção deste futuro partilhado, e que antevê Guimarães como um lugar de bem-estar, de conhecimento, de ciência, de inovação, de criatividade, de sabedoria coletiva, não é possível prescindir de um sistema científico robusto e aberto à sociedade, capaz de empoderar os cidadãos e de fortalecer o seu tecido económico.
Este é um futuro que só a Universidade do Minho é capaz de sustentar, emergindo, nesta senda, a sua Escola de Engenharia como um núcleo basilar que, através da formação de engenheiros em diversas especialidades, capacita recursos humanos fundamentais para o robustecimento da estrutura económica e diversificação setorial de que Guimarães está necessitada.
O futuro do tecido económico do território vimaranense pretende-se alinhado com o domínio prioritário

da Indústria e Sistemas Avançados de Fabrico, integrado na Estratégia de Especialização Inteligente da Região Norte da CCDR-N.
A este nível, Guimarães tem as condições de contexto necessárias para desempenhar um papel de charneira, consolidando-se como Plataforma Regional de Especialização Inteligente na área da Industrialização e Sistemas Avançados de Fabrico. Este devir pretende ser materializado através de um projeto, centrado num edifício de experienciação de zona livre e tecnológica, colaborativa e convergente, que albergue todo o saber científico, a que chamamos “Fábrica do Futuro”.
Procuramos inspirar os nossos milhares de empresas cujo “chão de fábrica” consolida o território como um território de forte identidade e raízes industriais, e que contribuirá decisivamente para a reindustrialização de Portugal, em especial de Guimarães e da Região Norte, na base tecnológica e de intensidade de conhecimento.
É nesta resposta aos desafios societais do presente e do futuro, em que a consciência ecológica e a sustentabilidade económica são imperativos prementes, que a Escola de Engenharia e os seus Centros de Investigação emergem como um alicerce sólido na configuração do território. Mas são também um alicerce sólido neste desígnio de transformação do tecido empresarial do concelho de Guimarães, fortemente industrializado, e sustentado nesta “Fábrica do Futuro”.
Para que entendamos este conceito de desenvolvimento económico, devemos explorar as suas diversas dimensões e possibilidades. A "Fábrica do Futuro" refere-se a um conceito inovador que vai além da mera aplicação de tecnologias avançadas na indústria.
Ele representa uma visão abrangente de transformação que pode ser estendida, como uma metáfora, a diversas áreas de atividade económica. Onde se aplique, a “Fábrica do Futuro” incorpora tecnologias como automação, colaboração entre humanos e máquinas, inteligência artificial, internet das coisas (IoT) e análise de dados para otimização de processos, novos materiais ambientalmente sustentáveis, incremento de eficiência e complexidade de produtos e serviços.
A integração de tecnologias avançadas traduzir-se-á em sistemas mais eficientes, processos mais inteligentes e tomadas de decisão mais informadas. A “Fábrica do Futuro” pressupõe a digitalização completa dos processos, permitindo uma maior conectividade entre diferentes partes do sistema, uma transformação que

pode ser aplicada em setores não industriais, como serviços financeiros, saúde e educação, áreas nas quais a digitalização e a conectividade podem transformar radicalmente a forma como as operações são conduzidas.
A “Fábrica do Futuro” é também sinónimo de sustentabilidade, uma vez que deverá ter como base os valores da ecologia, como a economia circular, a biodiversidade e a descarbonização, minimizando o impacto ambiental da atividade económica. E é sinónimo de flexibilidade e adaptabilidade, de forma a responder às exigências dos consumidores, às rápidas mudanças no ambiente concorrencial ou nas condições sociais.
Em resumo, a "Fábrica do Futuro" transcende o seu contexto industrial original, alegorizando a transformação digital e a inovação em todas as áreas da sociedade. A aplicação destes princípios em diferentes setores resultará, estamos certos, num tecido económico – e também social – mais eficiente, sustentável e adaptável, impulsionado pela integração inteligente de tecnologias avançadas.
Para a concretização deste desígnio, Guimarães terá que contar, inevitavelmente, com o papel da Universidade do Minho e de todas as suas unidades orgânicas. Terá que contar com o Instituto 3B’s e o Instituto Cidade de Guimarães, com a futura Academia de Transformação Digital, com o DTX- Colab, com a Associação Fibrenamics, com o PIEP.
Terá que contar com todas as empresas spin-off, criadas por professores e estudantes, e que transformam ideias inovadoras em produtos e serviços comerciais. Contará com os recentes cursos de Engenharia Aeroespacial e de Ciência dos Dados, assim como conta com todos os outros cursos das suas Escolas e centros de competência e investigação.
Foi por isso que quisemos que a Escola de Engenharia se visse enriquecida com as futuras instalações para o curso de Engenharia Aeroespacial, o que acontecerá após a reabilitação e refuncionalização da Fábrica do Arquinho, na Caldeiroa, um espaço funcional que será também a nova sede da Associação Fibrenamics.
É por isso que na Fábrica do Alto nascerá a nova Academia de Transformação Digital, um importante núcleo de transição digital e de transferência de conhecimento para as empresas, e um centro de empoderamento do cidadão através da formação tecnológica aplicada às necessidades reais do nosso tecido económico.
É indesmentível que a Universidade do Minho se tem destacado como um centro de pesquisa inovador em diversas áreas do conhecimento, colaborando com a indústria e outras instituições do território na geração de inovações que impactam positivamente a economia regional, nomeadamente no impulsionamento

de setores como o tecnológico, o da saúde e o ambiental.
Se até aqui foram destacados os domínios das ciências mais “duras”, importará lembrar, e sobretudo numa cidade como Guimarães, que é no Campus de Couros, a extensão citadina do Campus de Azurém, que estão instalados cursos de outros domínios importantes para o desenvolvimento da região.
Resultado do projeto de recuperação urbana de Guimarães 2012 Capital Europeia da Cultura, o projeto
CampUrbis foi responsável pelo nascimento de uma singularidade no coração da cidade.
O quarteirão de Couros, historicamente dedicado à indústria dos curtumes, votado ao abandono da sua primeira função com a desativação das suas fábricas, passa a albergar um projeto de aproximação e abertura da Universidade à cidade, com uma componente fortemente inovadora.
Da recuperação dos edifícios outrora utilizados na indústria da curtimenta, nascem, numa primeira fase, o Instituto de Design, o Centro Avançado de Formação Pós-graduada e o Centro de Ciência Viva. Mais tarde, fruto das políticas culturais, instala-se, no reabilitado Teatro Jordão e Garagem Avenida, a Escola de Artes
Performativas e Artes Visuais da Universidade do Minho, dando forma ao Bairro C, o Bairro da Criação, Criatividade, Conhecimento, Comunidade, Couros.
Consolida-se, assim, Guimarães como cidade que produz cultura, e dá-se um passo decisivo para o reforço da componente cultural na educação dos cidadãos do futuro. Com a nova Geração das Artes, e com, mais uma vez, a Universidade do Minho, o Campus de Couros está agora maior, mais diverso e mais enriquecido.
Como polo que gera atividade em diversas áreas, como a educação, a pesquisa, a inovação e o empreendedorismo, a Universidade do Minho, reconhecida nacional e internacionalmente pela sua excelência académica, tem um papel preponderante na formação e na produção de conhecimento, servindo como âncora na atração de estudantes de diferentes partes do país e do mundo, enriquecendo a diversidade cultural da cidade, promovendo um ambiente académico dinâmico e multicultural, e contribuindo para o rejuvenescimento da população, sendo vital no desenvolvimento socioeconómico e cultural das cidades que serve.
Na sua mais nobre expressão, a Universidade assume também a responsabilidade de cultivar a mente humana, de maneira igualmente crucial, para a edificação de seres sensíveis, solidários e socialmente comprometidos.

É um espaço que proporciona terreno fértil para a compreensão das complexidades interrelacionais que permeiam a sociedade, um farol ético que inspira os seus alunos, professores, investigadores, reconhecendo a importância da partilha e da cooperação como alicerces fundamentais para o florescimento coletivo.
Ao olhar para o futuro, é evidente que a Universidade do Minho continuará a desempenhar um papel fundamental na formação e produção de novo conhecimento, na geração de inovação e no fortalecimento das conexões entre a academia e a comunidade.
O seu impacto é duradouro e transcende as fronteiras do campus universitário, deixando uma marca indelével na região que serve. Através de um olhar e análise atentos às necessidades do território, a Universidade do Minho soube adaptar-se aos novos e exigentes tempos que vivemos, desempenhando um papel integral no crescimento e no desenvolvimento sustentável da região do Minho, que dela não pode prescindir.
“A nossa Universidade-menina cresceu e muito”

Aquilo que poderia parecer há décadas um sonho impossível – a promoção de uma política de desconcentração do ensino superior no nosso País, para lá dos três centros tradicionais (Lisboa, Coimbra e Porto), tornou-se numa realidade bem palpável, ela própria transformada numa máquina de sonhos que foi possível concretizar.
Os sonhos daqueles que visam adquirir competências para melhor enfrentar o mundo profissional. Os sonhos daqueles que partem à descoberta do novo conhecimento que, cada um à sua escala, vai mudando o mundo à sua volto. Os sonhos de profissionais e parceiros de realização de anseios pessoais, profissionais,

empresariais ou outros.
Os sonhos ainda por sonhar de territórios que rejuvenescem continuamente à boleia das suas universidades; que se capacitam para novos desafios e projetos; que alimentam uma rica e diversa efervescência cultural; que inovam e, com arrojo, corporizam um constante encontro intercultural.
A nossa Universidade-menina, a jovem Universidade do Minho, cresceu e muito, ganhou no alcance e impacto, e é hoje uma senhora instituição, indissociável de qualquer análise o modelo de desenvolvimento de Braga e da Região.
Parabéns, Universidade do Minho! Já lá vão 50 anos a mudar vidas e a contabilizar sonhos cumpridos e expetativas superadas. Celebramos, pois, por estes dias, uma data especial: o 50.º aniversário da nossa Universidade do Minho.
Olhamos para trás e testemunhamos um percurso de sucesso e superação absolutamente extraordinário. Meio século de dedicação ao saber, à inovação, ao conhecimento e à investigação determinante para o crescimento do território, moldando de forma indelével o que Braga (e o País) é hoje.
Nestes 50 anos, a UMinho tem sido um farol de modernidade, uma instituição que teve o mérito de transpor barreiras e a capacidade de se projetar internacionalmente, assumindo o papel de catalisador do desenvolvimento local e regional. A tudo isto juntou um comprometimento inexcedível com causas, valores e ideais nobres.
Centro de excelência
Este é também o momento de reconhecermos que este percurso notável só é possível devido à dedicação e empenho das pessoas que compõem esta instituição. Desde as diferentes Equipas Reitorais, Presidências e Direções de Escolas e Departamentos, Professores, Investigadores, até aos alunos e aos que diariamente trabalham nos campus de Gualtar, Azurém e Couros, a todos deixamos o nosso aplauso e gratidão por contribuírem para o engrandecimento da UMinho e, consequentemente, da cidade.
Desta instituição saem todos os anos inúmeras mentes brilhantes que moldaram e continuarão a moldar o nosso futuro coletivo nas mais diversas áreas do saber. Um centro de excelência cujo influxo de talento enriquece o seu ambiente académico, mas também sustenta a diversidade cultural que Braga tem para oferecer.
As atividades estudantis constroem uma atmosfera vibrante e dinâmica na cidade, com o intercâmbio

de ideias, a diversidade de perspetivas e as interações entre a comunidade académica e a população a promoverem um ambiente enriquecedor e a gerarem um impacto extremamente positivo na comunidade local.
A instituição tem-se destacado nos rankings universitários globais, validando a qualidade dos seus programas de ensino e investigação e dos seus recursos humanos. Essa excelente reputação atrai estudantes e investigadores de diversas partes do mundo, aumentando a riqueza intelectual dos campus.
A UMinho é um motor para o nosso progresso económico, cultural e social. À medida que evolui e inova, os agentes do território têm a responsabilidade de a ajudar nesse caminho, mas também o dever de saberem estabelecer pontes e colher os devidos benefícios de uma instituição académica dinâmica e comprometida com o território onde está inserida.
Ao longo destes anos a cidade, no seu todo, já tem demonstrado essa capacidade de fortalecer os laços com a Universidade, de materializar realizações conjuntas e de explorar sinergias que enriqueceram ambas as partes.
A Academia e a cidade
Instituições e agentes empresarias fomentaram com a UMinho parcerias com inúmeros benefícios mútuos. Todos os desafios colocados foram recebidos de braços abertos pela UMinho, contribuindo de maneira vital para o desenvolvimento social e económico que Braga experienciou e que coloca a cidade num patamar superior, sendo actualmente um dos grandes motores da economia a nível nacional.
Muito devido à atuação da UMinho, a cidade tem pessoas e talento geradores de criatividade na ciência, nas artes, na engenharia e na economia, assim como o acesso às ferramentas de investigação e progresso essenciais ao crescimento sustentado. A estes fatores junta-se a aposta do Município no empreendedorismo e nas infraestruturas que facilitam a atratividade das empresas aqui localizadas e que ligam Braga ao mundo.
Braga é um viveiro tecnológico, onde surgem startups internacionais bem-sucedidas de investigação em tecnologias de informação, materiais avançados e industriais, ciências da saúde, medicina regenerativa e física ou engenharia biológica.
A investigação produzida na Universidade do Minho liga-se ao Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia (INL), um dos principais centros de pesquisa internacional, e produz resultados concretos na transferência de conhecimento e tecnologia para as nossas empresas.
Na sociedade atual, é inegável que o conhecimento científico produzido nas Universidades transformou-

se no principal fator de produção e de inovação, dando respostas às necessidades concretas do universo laboral. A UMinho é um parceiro fundamental do tecido económico da região e um catalisador de vários projetos realizados pelas empresas aqui sediadas.
Um perfeito exemplo disso é o projeto de Investigação e Desenvolvimento (I&D), concretizado em parceria com Bosch Car Multimedia Portugal. Trata-se de uma parceria exemplar para o futuro da economia portuguesa, demonstrativa de que existe uma estratégia conjunta a ser delineada entre todos os agentes do território.
Falando mais concretamente da relação entre o Município de Braga e a UMinho, é com orgulho que podemos dizer que a mesma se aprofundou de forma acentuada nos últimos anos. Reconhecendo a importância crítica da aposta no conhecimento e na investigação para impulsionar o território, e sabendo que só em conjunto e trabalhando em rede podemos atingir estes objetivos, criamos inclusivamente o pelouro da ligação às universidades.
Esta vontade de estreitar laços, expressa neste passo concreto da criação de um pelouro, foi essencial para criar um canal de diálogo mais consistente e contínuo com a UMinho, resultando no desenvolvimento de projetos conjuntos em diversos domínios, como o empresarial, cultural ou de intervenção social.
A UMinho é um agente fundamental da cidade, sendo que esta é uma instituição que está presente em praticamente todas as áreas da governação municipal. Das políticas culturais às acessibilidades, do desenvolvimento económico à inovação tecnológica ou à sustentabilidade, bem como à reabilitação e conservação do património arquitetónico e arqueológico, vários são os temas em que ambas as instituições colaboraram ou estão atualmente a colaborar.
Desenvolvemos um plano estratégico para o desenvolvimento económico do concelho numa perspetiva de 12 anos (2014-2026) que tem na UMinho e no seu potencial material e imaterial um dos seus pilares essenciais.
Um dos grandes projetos e desafios que temos em mãos, no âmbito do PRR, é o projeto de construção de uma nova residência universitária na antiga Fábrica Confiança. A intervenção vai garantir a salvaguarda da dimensão patrimonial do edifício e criar novas dinâmicas de interação com a envolvente, com a regeneração de uma zona que simboliza um eixo central de ligação entre a UMinho e o centro da cidade.

Será um projeto de referência para o futuro do concelho que vai acorrer a muitos objetivos e necessidades, em particular a disponibilização de mais camas a estudantes universitários, fator determinante para que a UMinho mantenha a sua atratividade e sustentabilidade.
Um exemplo na reabilitação
Outro projeto conjunto emblemático a nível patrimonial e turístico é a reabilitação do Convento de São Francisco, tendo em vista a sua visitação. O projeto visa ainda estabelecer a reposição da coesão espacial do conjunto monumental composto pela Igreja de São Francisco e Mausoléu de São Frutuoso, este último monumento nacional. Neste âmbito permitam-me referir outros esforços em parceria no Teatro Romano da Cividade, na Ínsula das Carvalheiras ou nas ruínas da Rua Santo António das Travessas.
Arrisco dizer que o sucesso das políticas municipais e a definição daquilo que será Braga reside na capacidade em continuar a incorporar nas decisões políticas o conhecimento produzido nas salas de aula. Independentemente de quem venha a corporizar as futuras soluções de executivos municipais, seguramente que este precioso capital será incorporado na sua atuação.
Esta mensagem pretende também ser uma visão inspiradora do que está por vir, porque acredito plenamente que o futuro será igualmente risonho e promissor Numa época em que a competição pela atração de talento é global, a competência dos recursos formados nesta academia e criados na nossa cidade é absolutamente imprescindível e é nossa responsabilidade, enquanto comunidade, preservar e potencializar o legado da UMinho para as próximas décadas.
Acompanhar as transformações e os desafios que se colocam à sociedade atual implica investimento e adaptação às mudanças no cenário educacional, tecnológico e social. A UMinho, pelo seu carácter diferenciador e jovial, sempre se destacou pela adaptabilidade e estou certo de agora não será diferente: é o momento de olhar em frente, abraçar a diversidade e reinventar a forma como oferecemos educação e transmitimos conhecimento.
A integração da tecnologia no ensino obrigará a investir em infraestrutura tecnológica avançada, promovendo ambientes de aprendizagem digital e laboratórios de pesquisa para proporcionar uma experiência académica ainda mais rica e dinâmica. A UMinho está a liderar este caminho da integração de ferramentas para aprimorar a excelência na educação.
Ao fazê-lo, não aumenta apenas a acessibilidade da educação, mas prepara também os alunos para um

mundo onde a tecnologia é uma força motriz. A rápida transição para a era digital está a transformar todos os sectores e a capacidade de aprender a trabalhar com ferramentas digitais, recolher e compreender a análise de dados e aplicar soluções tecnológicas são aptidões cruciais para o sucesso no atual mercado de trabalho.
Num mundo em constante transformação, não importa apenas transmitir conhecimento, mas também desenvolver habilidades que capacitam os alunos a enfrentar os novos desafios. Pensamento crítico, resolução de problemas, comunicação eficaz e habilidades interpessoais são tão cruciais quanto o domínio exaustivo de uma área específica.
O Futuro e a Inteligência Artificial
Temos de garantir que os nossos jovens estão preparados para se adaptarem a um paradigma de alterações profundas no mercado laboral que se preconiza a curto/médio prazo, com questões como as alterações climáticas, a transição digital ou a inteligência artificial a assumirem um papel central. Essa adaptabilidade será a chave para navegar num cenário global caracterizado pelas mudanças bruscas e pelo galopar das transformações tecnológicas.
Nesse sentido, se é verdade que a crescente presença da inteligência artificial no mercado de trabalho implica que algumas funções serão automatizadas, também é uma realidade que inúmeras oportunidades surgirão e temos de estar na linha da frente para delas tirar o melhor partido e aumentar a competitividade do território. A capacidade de entender e trabalhar em conjunto com sistemas inteligentes será uma competência cada vez mais necessária.
A colaboração eficaz entre o sector académico e empresarial pode acelerar estes processos de inovação, permitindo que as empresas incorporem rapidamente avanços tecnológicos decorrentes da inteligência artificial nas suas operações e melhorem significativamente os seus processos de tomada de decisão através do acesso e análise de dados. Só introduzindo estes processos na nossa forma de gestão poderemos manter a competitividade a nível global.
Outro dos pilares fundamentais para a reinvenção da educação é a promoção da colaboração e interdisciplinaridade. Os desafios complexos que enfrentamos só podem ser resolvidos se adotarmos uma abordagem integrada, onde diferentes áreas de conhecimento convergem para encontrar soluções inovadoras.
A quebra de barreiras entre diferentes áreas de conhecimento estimulará a criação de soluções

inovadoras para os problemas do mundo real. Novos programas que promovam a colaboração entre as diferentes escolas e institutos irão certamente fomentar a formação de profissionais versáteis e preparados para os desafios que se avizinham.
Por fim, falo de outro ponto que me parece da maior importância: a internacionalização. A colaboração com instituições de renome internacional, os programas de intercâmbio e a atração de uma comunidade académica e de investigadores diversificada contribuirão para a formação de profissionais capazes de enfrentar, em qualquer parte do mundo, desafios complexos numa sociedade interconectada.
Neste texto de comemoração de tão importante efeméride, permitam-me terminar com uma nota mais pesarosa. 2023 foi o ano em que o Professor e ex-Reitor António Guimarães Rodrigues nos deixou fisicamente, já que o seu legado permanecerá por longos e bons anos.
Uma personalidade serena, mas acutilante, com uma visão para lá do horizonte e cujo papel foi essencial para fazer da UMinho aquilo que ela é hoje. Como reconhecimento do seu enorme contributo para Braga, em 2014 foi homenageado com a Medalha de Ouro da cidade, distinção que tive a honra de lhe entregar em mãos. É da mais elementar justiça recordar aqui a sua memória.
Juntos, somos UM!


João Cardoso Rosas - Presidente da Comissão Comemorativa dos 50 anos da Universidade do Minho:
“A Universidade do Minho é um poderoso elo de ligação entre Guimarães e Braga”
As imagens a preto e branco da visita do ministro Veiga Simão a Braga e Guimarães, entre 17 e 18 de fevereiro de 1974, por ocasião da tomada de posse da Comissão Instaladora da Universidade do Minho, constituem um notável testemunho histórico e, ao mesmo tempo, um encontro imediato com o futuro que a nossa Universidade construiu nos cinquenta anos subsequentes.
Percebemos ali o peso do passado e do Portugal do Estado Novo, da subserviência face ao poder, da presença da Igreja na esfera pública, do folclore nacional-populista. Mas vemos também duas cidades a descobrir que o futuro é possível, um genuíno entusiasmo popular, a juventude e energia dos principais protagonistas, cujas referências estavam mais no Reino Unido, onde tinham feito o doutoramento, e nas experiências de criação de novas instituições em África (especialmente em Lourenço Marques), do que na metrópole salazarista e marcelista.
Veiga Simão e Carlos Lloyd Braga, que assumiria a Presidência da Comissão Instaladora, eram homens de experiência e de visão, que tinham plena consciência da importância da expansão do sistema universitário português e do seu papel na modernização económica e social do país.
Enfrentaram inúmeros obstáculos de dentro do sistema, mas perseveraram. A revolução de 25 de abril desse mesmo ano e o início do conturbado processo de transição à democracia, com a convocação de novos protagonistas políticos, poderiam ter modificado o curso da criação da Universidade do Minho.
Em vez disso, permitiram a sua continuidade e consolidação, em consonância com a dinâmica histórica geral. No fundo, a expansão do sistema universitário, num processo que iria continuar nas décadas seguintes e para além do Decreto-Lei 402/73 que criara as Universidades do Minho, Aveiro, Nova de Lisboa e o Instituto

Universitário de Évora, constituía um epítome perfeito da democratização da sociedade portuguesa.
A aliança entre democratização e novas universidades ficou selada nesses anos de brasa. A Universidade do Minho cedo ganhou reconhecimento com um perfil de universidade técnica, com um grande desenvolvimento das engenharias e uma ligação estreita com o tecido económico que prometeu – e conseguiu – modernizar.
Esta é ainda a imagem prevalecente da instituição, especialmente a nível nacional, o que não deixa de estar espelhado na dimensão relativa da sua Escola de Engenharia, a maior e mais influente nos equilíbrios internos da instituição. Mas o projeto da UMinho sempre foi, desde o início, muito mais abarcante e ambicioso. A Universidade do Minho sempre se quis e construiu como “completa”, isto é, tocando todas as áreas do saber e do ensino.
Uma referência no território
Assim, apostou desde logo na formação de professores – muito deficitária nos anos setenta e de novo hoje em dia -, nas Ciências Exatas e da Natureza, nas Ciências Económicas e Sociais, nas Letras e nas Artes. Muitas das promessas demoraram décadas a realizar, como foi o caso da criação da Escola de Direito, ou da criação da Escola de Medicina.
Foi preciso ultrapassar, paulatinamente, preconceitos e oposições. Mas a Universidade do Minho é hoje, efetivamente e de acordo com a sua promessa inicial, uma “universidade completa”.
Enquanto universidade territorial, a UMinho teve de suplantar na sua história as rivalidades regionais que a marcaram desde o início. Mas fê-lo de forma elegante, optando por um modelo de dois campi, em Gualtar e Azurém, depois alargado com outras e novas instalações dispersas pelo território.
Hoje a Universidade não separa, mas une, sendo um poderoso elo de ligação entre as cidades de Braga e Guimarães, situadas a poucos minutos uma da outra, agora que a distância se mede em tempo e já não em quilómetros.
Mas, até pelo caracter “estrangeirado” da maior parte dos seus fundadores, a Universidade do Minho nunca se quis “local” e sempre se viu como uma instituição universitária em Portugal e no mundo, muito para além do seu inegável papel no desenvolvimento regional.
Muita da investigação aqui realizada competia e compete cada vez mais com o que se faz na Europa e no Mundo, o que é testemunhado pela capacidade dos seus docentes e investigadores para captar projetos

europeus, para ganhar bolsas e prémios internacionais, para registar patentes, para se inserir em posições de destaque nas redes europeias e internacionais de produção de conhecimento de ponta.
Mas se, nestes cinquenta anos de crescimento e afirmação de uma Universidade que nunca teve tantos alunos e formações graduadas e pós-graduadas como tem hoje, tantos projetos e centros de investigação, muito de bom, ou mesmo de excecional, foi feito, houve e há muitas dificuldades que à instituição não podem ser assacadas. A Universidade do Minho, como todas as outras instituições do sistema nacional, teve de se adaptar à instabilidade e inconsistência das políticas públicas nacionais neste domínio.
O Processo Bolonha
Assim, por exemplo, na área do ensino, o modo como foi implantado no país o chamado “processo de Bolonha” levou a um empobrecimento das formações de primeiro ciclo, inicialmente muito mais completas e multidisciplinares, e ao afastamento do nosso modelo universitário face ao modelo dos vizinhos espanhóis, com quem teríamos à partida maiores afinidades e possibilidades de cooperação.
Tal foi particularmente penalizador na Universidade do Minho devido ao seu funcionamento matricial e à capacidade que até então tinha mostrado para inovar em termos educativos e na criação de cursos mais interdisciplinares.
Na área da investigação e depois da tentativa bem-sucedida de criar um sistema científico nacional, passou-se a viver de expedientes, com a multiplicação de programas e formas de financiamento, sempre atrasados, sempre escassos, cada vez mais dependentes de verbas e prioridades europeias e não nacionais.
A incapacidade do poder político para fazer confluir virtuosamente as carreiras científica e docente, a investigação e o ensino, marcarão negativamente estes anos em que o sistema científico se arrasta, com as consequências que agora se adivinham de uma rápida redução ou mesmo descontinuidade das equipas de investigadores constituídas e já consolidadas na Universidade do Minho.
Na governança das instituições, a falha dos sucessivos Governos em cumprir os compromissos financeiros assumidos levou a uma situação crítica de subfinanciamento ao longo da última década, em várias instituições e particularmente na Universidade do Minho, só recentemente e muito parcialmente revertida. O regime de gestão das instituições, cuja democraticidade foi conscientemente reduzida, mostrou não estar à altura dos tempos e requer agora uma nova injeção de abertura ao exterior e aprofundamento da democracia interna.

Ainda no âmbito do que correu menos bem nestes cinquenta anos, há também uma parte que pode ser atribuída à própria instituição. Demasiado centrada no seu crescimento e na produção de resultados tanto na formação como na investigação, assim como na sua projeção na sociedade, a Universidade do Minho viu a sua estrutura, concebida para uma instituição bem mais pequena e centralizada, transformar-se num empecilho para a realidade que ela própria criou através da sua expansão.
Hoje, o quotidiano da Universidade do Minho é marcado pelas ineficiências burocráticas internas cuja superação requer uma coragem e energia reformadoras que nos têm faltado.
As comemorações dos 50 anos da Universidade do Minho, coordenadas por uma Comissão de nomeação reitoral à qual tenho a honra de presidir, quiseram desde cedo recolher todo o legado desta história de 50 anos, prefigurado naquele momento inicial, em fevereiro de 1974, celebrando esta extraordinária história, mas também, como nos compete enquanto universitários, refletindo criticamente sobre ela e sobre os próximos 50 anos.
Por isso as comemorações comportam diversos momentos celebrativos, como o que hoje decorre, múltiplos concertos da nossa orquestra sinfónica e de orquestras de câmara, teatro e performance.
Mas quisemos também incluir uma série de iniciativas voltadas para o bem-estar da comunidade académica, como atividades desportivas e de animação cultural nos campi, a expansão dos seus espaços verdes, ou a meia-maratona que uniu Guimarães e Braga no último dia 21 de abril. Não podíamos deixar de incluir a produção de trabalhos e livros académicos, tendo realizado um estudo sobre a produção científica da UMinho ao longo destes anos, um outro sobre o seu impacto social, e outro ainda sobre a sua projeção para o futuro.
As comemorações englobam ainda uma exposição itinerante sobre a Universidade do Minho que percorrerá toda a região, a criação da memória digital da Universidade, e uma série de conferências e momentos de reflexão, dos quais destacaria o colóquio sobre “As Novas Universidades no Contexto da Democratização Portuguesa”, inserido nas comemorações nacionais do 25 de abril, numa realização conjunta com a Universidade de Aveiro, a Universidade de Évora e o ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa.
Estas comemorações vão prolongar-se até ao final de 2024. Para tudo isto contámos com o empenho da própria Universidade e do seu Reitor, a quem gostaria de agradecer.

Mas também e em especial com o apoio das Câmaras Municipais das cidades de Braga e Guimarães, às quais estamos umbilicalmente ligados, assim como de diversas empresas privadas, na maior parte dos casos, fundadas ou desenvolvidas por alumni da Universidade do Minho.
E os próximos 50 anos? Que Universidade teremos daqui por outro meio século? Seremos atualmente capazes de ter a mesma clareza e capacidade de antecipação do futuro que tiveram os fundadores da Universidade do Minho?
O nosso contexto é marcado por uma revolução tecnológica iniciada no final do século XX e que se encontra ainda em pleno desenvolvimento. Esta revolução centra-se na digitalização e na inteligência artificial, cujos efeitos são transversais, mas também no rápido desenvolvimento das ciências da vida e das biotecnologias.
Além disso, desenrola-se no quadro de uma crise ambiental marcada pelo aquecimento global, pela degradação dos ecossistemas e pela extinção acelerada de espécies. Os grandes desafios que a Universidade tem pela frente relacionam-se provavelmente com estes fatores, com a inovação tecnocientífica e com a crise ambiental generalizada.
Ao longo das nossas vidas, e da vida da Universidade do Minho, testemunhámos a passagem definitiva do modelo da Universidade Humboldtiana para a Universidade Profissional que temos agora, muito voltada para a formação de profissionais altamente competitivos e para a produção do conhecimento que os apoia. Porém, num tempo de mudança e de crise como aquele que atravessamos, este modelo mostra as suas limitações intrínsecas já que os contextos profissionais estão em constante mudança, o que é em boa parte gerado pelos desafios societais referidos e pelas próprias mudanças tecnológicas.
A Universidade formadora de profissionais e geradora de tecnociência deverá por isso adaptar-se a novas mudanças gerando, por um lado, formações mais flexíveis e adaptativas e, por outro, a recuperação de uma cultura humanista e voltada para o diálogo, cuja perda acelerada está a conduzir as sociedades contemporâneas para as vias da confrontação cultural, do radicalismo e da violência política. Caberá às Universidades, nos próximos anos, assumir-se como agentes de diálogo e abertura, de racionalidade e de razoabilidade, e não de fechamento ou de intolerância, como por vezes mostraram poder ser também.
Por isso apostaria em uma Universidade do Minho dos próximos 50 anos cada vez mais alicerçada no

seu projeto de “Universidade completa”, capaz de fazer confluir uma educação técnica e profissionalizante com uma educação humanista, uma universidade que forma homens e mulheres racionais e livres, não apenas profissionais preparados e competentes.
Estes objetivos implicarão com certeza uma nova perspetiva sobre a organização dos cursos e, porventura, das próprias unidades orgânicas, mas também novas vias de colaboração entre centros de investigação.
Mais do que uma investigação guiada apenas pelos paradigmas próprios de cada área impõe-se uma investigação guiada por problemas que são muitas vezes transversais e requerem respostas diversas e assentes em distintos paradigmas investigativos.
Para garantir um futuro de outros 50 anos, a Universidade do Minho terá de saber adaptar a sua estrutura interna aos desafios acima delineados.
Terá de ser audaz como os seus fundadores, democratizar a eleição do Reitor (assim a lei geral o permita), descentralizar a gestão passando competências e meios para as unidades orgânicas, abrir-se mais à sociedade civil, gerar a cooperação entre Escolas e Centros, renovar as formações que oferece, não hesitar na eliminação de obstáculos burocráticos ao seu funcionamento, investir nas condições físicas e de vivência nos seus campi, desenvolver os programas culturais que propicia à comunidade académica e às cidades em que se insere.
A Universidade do Minho deverá procurar ser mais forte, não maior. O ciclo de crescimento deve dar lugar a um ciclo de consolidação e qualidade, centrado nas pessoas e na construção de um mundo melhor. Só assim a Universidade do Minho terá mais 50 anos de futuro – e bem os merece.




1973 - 1980

1984 - 1985

António Guimarães Rodrigues 2002 - 2009
1980 - 1981

1985 - 1998

António
2009 – 2017
1981 - 1984

- 2002

Rui
2017…

O Presidente da Direção da Associação Académica da Universidade do Minho (AAUM) entre 1988 e 1991, Luís Novais – estudante com profundas ligações ao CAUM – foi o responsável pela introdução do atual traje na academia minhota.
No desenrolar de um trabalho do seu percurso académico, consultou um dos manuscritos do século XVIII, as memórias de Ignácio José Peixoto, que fora secretário do arcebispo de Braga.
Num dos trechos do manuscrito, o seu autor refere o período anterior à expulsão dos jesuítas pelo Marquês de Pombal, dizendo que “Braga era uma Universidade”, provavelmente numa alusão ao antigo colégio de São Paulo, que pertenceu à Companhia de Jesus e que, na verdade, nunca foi de estudos universitários.
Prossegue: “Direi agora como trajavam os estudantes…”. Seguia-se a descrição dum traje que a direção da Associação Académica da Universidade do Minho decidiu recriar em 1989.
O traje atual foi desenhado por uma estilista de Braga, com base na descrição de Ignácio José Peixoto e nos painéis de azulejo do século XVIII que existem na escadaria do Paço Episcopal Bracarense, situado no Largo do Paço, atual Reitoria da Universidade do Minho.
Trata-se duma adesão livre dos estudantes da Universidade do Minho, que nunca foi alvo de decisão reitoral, nem consta dos respetivos estatutos. Depois de aprovado pela Associação Académica, viria posteriormente a ser regulamentado pelo “Cabido de Cardeais”, o órgão que nesta universidade regular os assuntos relativos à praxe académica.
Composição do traje académico
As regras do “bem trajar”, ao momento da sua conceção, estabeleceram diferenças entre o traje masculino e o traje feminino. No entanto, essas diferenças notam-se, maioritariamente, apenas da cintura para baixo. Os restantes elementos são comuns para os dois sexos:
- Camisa branca de gola alta com abertura abotoada nas costas; duas aplicações frontais com dois botões de cada lado, manga com punho comprido, com quatro botões, macho centrado na parte frontal; todos os botões são brancos e forrados;
- Casaco preto, de golas largas, com abertura frontal (com cinco botões e cinco casas) dois bolsos com pala na parte frontal (com quatro botões e quatro casas), mangas com macho e o punho

dobrado (aberto, com três botões e três casas); todos os botões são pretos, forrados e todas as casas metidas;
- Capa em godé;
- Tricórnio, um chapéu de três bicos (com formato triangular); (opcional) Pasta académica (também conhecida como Pasta da Praxe), uma pasta preta, em pele ou imitação de pele, lisa e simples para transporte de documentos e cadernos.

Casaco reto;
Bermudas pretas com bolsos metidos, a apertar com fecho e botão (forrado), cós com presilhas, pernas com fundo franzido, com uma tira a apertar de lado com botão (forrado) e de comprimento três centímetros abaixo da base da rótula; cinto (quando usado, será preto, liso e com fivela discreta);
Meias pretas e opacas, pelo joelho;
Sapatos pretos, de couro (inclusive a sola), lisos e de fivela.

Traje feminino

Casaco cintado;
Saia preta com cós a direito, aberta atrás, na parte superior com fecho e botão, na parte inferior com trespasse (com três botões (forrados) e três casas metidas) e de comprimento, no mínimo, dois centímetros acima da parte superior da rótula;
Collants pretos de vidro (não opacos), finos e lisos e sem quaisquer feitios, defeitos ou efeitos; Sapatos, pretos, de couro, lisos, com frente arredondada ou quadrada e com um tacão largo, uniforme, de três a cinco centímetros de altura.

Importância das Insígnias
Uma vez que todos os estudantes usam fatos idênticos (variando apenas no sexo do utilizador), foram criadas as Insígnias, um conjunto de fitas de diversas cores e larguras que denominam o curso e o estatuto do estudante em causa.
Estas são presas na manga direita do casaco, presas sob o símbolo da AAUM ou da UM. Cada cor (ou conjunto de duas cores) representa o curso do estudante ou a escola/instituto em que estudam. O número de fitas representa o número de inscrições na Universidade.
A largura das fitas representa o ano curricular em que está matriculado, sendo que cada ano representa um centímetro. As fitas são mudadas pelos estudantes no evento “Imposição de Insígnias”, mas oficialmente os alunos mudam de estatuto no momento em que efetuam a respetiva inscrição no início do ano letivo.
HINO DA UMinho
História do Hino
A ideia de criar um hino para a Universidade do Minho partiu da Associação Académica da Universidade do Minho em 1995, num momento de particular vitalidade da nova academia minhota. O poeta José Manuel Mendes e o compositor Fernando C. Lapa foram os autores contratados.
Assim nasceu o Hino da Academia, o qual tomou a designação de Hino da Universidade do Minho após a sua aprovação pelo Senado Universitário, no dia 17 de Janeiro de 2004, como hino oficial da universidade. Mais do que a exaltação à instituição, é uma feliz expressão dessa experiência marcante que constitui, para muitos jovens, a passagem pela universidade.
O Hino da Universidade do Minho foi gravado pelo Coro Académico da Universidade do Minho em 1995, figurando na abertura do CD Estes Anos São Viagem editado pela Rádio Universitária do Minho. Foi nessa ocasião ensaiado também pela Azeituna e pela Tuna Universitária do Minho, sendo interpretado por essas tunas e pelo coro em diversas ocasiões.
Foi gravado em 2001 pelo Coro Académico, com acompanhamento de piano, sendo a peça de abertura do CD Vozes e Espaços. Foi também gravado novamente em 2003, no projeto do CD Coro sobre Azul, em que é tocado pela Azeituna e cantado pelo CAUM.

Letra do Hino
Estes anos são viagem
Entre a água e o acontecer
Ramo de astros sobre a margem
Barco ainda por haver
É no vento a nossa casa
Chão aberto a quem chegar
São mil asas numa asa
Da canção a partilhar
Novo tempo e já memória
Dias breves em devir
É o arder na própria história
Todo o destino é partir
Estes anos são passagem
Entre a água e o acontecer
Um amor de mar e margem
Na euforia de viver
É no vento a nossa casa
Chão aberto a quem chegar
São mil asas numa asa
Da canção a partilhar
Novo tempo e já memória
Dias breves em devir
É o arder na própria história
Todo o destino é partir.

03 Campi
09 Laboratórios Associados
11 Unidades Culturais e Diferenciadas
12 Escolas/Institutos
12 Unidades de Interface
13 Laboratórios Colaborativos
30 Unidades de Investigação
43 Patentes
48 Spin-offs
50 anos de UMinho
650 Projetos de Investigação (em curso)
750 Técnicos Administrativos e de Gestão
1.700 Professores e Investigadores
1.900 estudantes de Doutoramento
2.300 estudantes estrangeiros
3.400 Publicações Científicas
20.500 estudantes
Filipe Fontes


Há muito que penso no significado da palavra universidade. Não no sentido etimológico ou semântico, mas naquele sentido subjectivo e prático de uso quotidiano, porventura, algo desviante da sua efectiva e formal definição, mas reflexo de um entendimento generalizado e comum. E nesse pensamento errático e deambulatório, encontro uma visão de universidade como o local onde se encontra a comunidade nas suas diferentes idades, um local onde a idade é aberta sem limites, onde se soma universal e idade… também encontro uma outra visão da universidade enquanto local maior da cidade, local aberto onde todos se encontram e relacionam, feita síntese de universal e cidade.
Seja como for, nunca colocando em causa universidade enquanto sinónimo de conhecimento!
Universidade é, assim, palavra que agrega e congrega conhecimento e saber, transversalidade na população, lugar e comunidade, abertura e relação, num sinónimo desejado de democraticidade e liberdade que merece ser cuidado, valorizado e celebrado.
Há valores que são identitários de uma comunidade. São marca de singularidade e diferenciação. Há valores que são inatos e construídos, conjugados e superados.
Todavia, há valores que são fundadores do ser e do estar, da ética de viver em comunidade e sinal de urbanidade maior que deve fundir a relação do ser humano com outro ser humano. Entre eles, a democraticidade e a liberdade são aqueles mais cimeiros e protagonistas.
Democraticidade e liberdade são expressão de uma dignidade humana constituída por um entendimento de que somos feitos de direitos e deveres, de uma condição e circunstância que não nos fazem melhores nem piores, iguais ou diferentes, apenas singulares e específicos, mas sujeitos aos mesmos princípios e valores: a liberdade de ser quem somos, a democracia de influenciarmos a comunidade pelo que somos e conseguimos ser, a dignidade de nos ouvirem e de nos fazermos ouvir num território aberto a todos e que todos aceita!
Dir-se-á que, fácil e rapidamente, se caminha para a utopia. Provavelmente, não sem antes lembrar e

acentuar que é essa utopia que alimenta a esperança. E a esperança é o alimento que sustenta o homem e o faz acreditar que há sempre um amanhã que pode ser melhor, por pouco que seja.
Acredito que a universidade é palco e circunstância desta utopia e desta esperança. É palco de cidade, de democracia e de liberdade. É sinónimo de conhecimento e informação, de relação e amizade, de oportunidade e descoberta, de vida melhor! E, por isso, tributária e merecedora de usufruto generalizado que a todos aproveita e que de todos se alimenta.
Por isso, com naturalidade e inevitabilidade à palavra universidade se associam as palavras idade e cidade. Idade porque sem fronteiras temporais para a aquisição e transmissão de conhecimento, porque acessível e aberta. Cidade porque sinónimo de urbanidade e relação, comunidade e território comum. Idade e cidade porque generalizadas e comunitárias, novamente, de todos e para todos.
Por consequência deste entendimento, feliz o território, felizes as cidades que guardam em si “uma universidade”, não porque sejam exclusivas usufrutuárias dos seus efeitos e resultados, mas, simplesmente porque primeiros e imediatos beneficiários da sua projecção e prestígio, dos seus resultados e impacto, da sua dinâmica e transformação.
Com a universidade, chegam pessoas feitas estudantes, professores, funcionários, chegam necessidades de alimentação, estadia, deslocação, lazer e trabalho, chegam conhecimento, eventos e encontros, chega uma multiplicidade de acontecimentos de efeito e transformação, porventura, incomensuráveis, seguramente, de benefício evidente e consensual. É transversal à sociedade o quanto uma cidade beneficia da “sua” universidade, é objectivo o quanto é transformadora a presença da universidade nessa mesma urbe. De igual modo, o inverso também se afigura verdade e real, sendo inegável que a universidade também beneficia da cidade e do território onde se insere, a ele não sendo indiferente, nele se potenciando nas suas qualidades, oportunidades e distinções.
Nesta relação de dependência e ambivalência, Guimarães e a Universidade do Minho encontram-se de forma fatal e incontornável, dir-se-á, inevitável, não sendo possível, hoje, dissociar uma da outra, não se escrevendo a história de uma sem menção e repetição da outra, não se valorizando uma sem valorizar a outra, uma dependendo da outra, numa relação longa e inata que conhecendo, naturalmente, os seus momentos tensos e de menor satisfação, não pode deixar de ser considerada feliz, incompletamente feliz, não porque algo faltou ou falhou, mas porque simplesmente ainda falta viver o futuro que se advinha (também ele) longo e intenso, numa história sempre feita a dois e para todos nós.

50 anos representam uma história demorada de uma instituição que emergiu como rosto de uma região, àquela data, num processo de reconversão, sedenta de projecção, robustez, apoio e afirmação3. Começou por se projectar num só lugar, num papel territorial intermédio e intermediário dos dois grandes polos urbanos do Minho (Braga e Guimarães), rapidamente se desdobrando fisicamente entre estas duas cidades como reflexo de tensões, encontros e desencontros das duas “faces da mesma moeda”: nunca deixando de construir uma visão, uma da instituição, mas aceitando o seu desdobramento geográfico e disciplinar – “Guimarães e as engenharias, Braga e tudo o mais” – a Universidade do Minho foi-se afirmando no contexto local, regional e nacional, sendo, hoje, passado meio século, incontornável na história de Guimarães e Braga, do Minho e do Norte de Portugal, do país e a nível internacional.
Sabendo-se correr o risco de ser redutor ou de compartimentação temática passível de percepção ou adulteração da abrangência e seu efeito multiplicar, cinge-se o texto em causa à perspectiva territorial da Universidade do Minho na cidade de Guimarães, fazendo jus à indissociabilidade disciplinar do autor destas palavras ao território e às cidades, da Universidade do Minho à sua cidade cofundadora e palco de sucessivas conquistas.
Sendo o ano de 1973 inevitável como marco identitário do nascimento da Universidade do Minho, num acto formal e decretado que conhece em 1974 a sua expressão mais factual, institucional e operativa com a tomada de posse do seu primeiro reitor, os anos de 1976, 1985 e 2010 são anos fundadores de uma “maneira de ser e estar” com repercussão indelével no território: 1976 como suporte

“Campus universitário” de Azurém, com o lançamento da “primeira pedra do campus universitário” de Azurém, em 1985; foto do autor
3 Nomeadamente o vale do Ave emergia como um grande acontecimento industrial, deixando uma marca territorial de forte expressão que, então, ganhou conotação e marca negativa: a pujança produtiva e o reflexo financeiro nos seus empresários esbarravam no impacto do grande volume edificado, na sua repercussão hídrica nefasta, no nível de poluição fosse sonora, ar, consumo de recursos naturais, … e, sobretudo, numa realidade social feita de contrastes entre riqueza (e opulência) e pobreza (e injustiça), trabalho braçal disponível e parcas qualificações técnicas

fundacional da criação e assunção da Universidade do Minho com dois polos centrais, assumindo-se Guimarães parte indelével dessa expressão física e urbana do equipamento académico; 1985 como lançamento da “primeira pedra do campus universitário” de Azurém, o qual conhece, ao longo dos anos, o seu crescimento e consolidação, verificando-se, em 2010, a sua “extrapolação” para outra área da cidade, com a criação do denominado “polo universitário de Couros”4 .

“Polo universitário de Couros”, criado em 2010, foto do autor
Nos interstícios destas datas referenciais, assistiu-se a um desenvolvimento e robustecimento da universidade a diferentes velocidades e intensidades, mas sempre de forma relacional e dependente, intrincada e recíproca entre a urbe e a universitas, registando-se uma progressiva capacidade de atracção de estudantes (que não futura fixação), talento e pessoas, uma progressiva disseminação de necessidades habitacionais (que nem sempre significou capacidade de oferta e disponibilidade residencial), uma progressiva interacção na vida urbana (por vezes, ou tantas vezes, com sinais de difícil compatibilidade nocturna e ruído), uma progressiva geração de talento preparado para o mercado de trabalho (nem sempre com a correspondente capacidade de reter e reverter para o tecido empresarial local), uma progressiva construção de arquitectura contemporânea e espaço público (com demora na sua apropriação generalizada e dinamismo urbano), enfim, uma progressiva história de afirmação e relação com a cidade que tornou , hoje, passados 50 anos de história, a mesma universidade protagonista central de uma cidade que vê o seu percurso temporal de muitos e muitos mais anos recheado de um sinal de
4 A expressão territorial da Universidade do Minho na cidade de Guimarães é abrangente e transversal, dominada por dois polos – Azurém e Couros – e feita de uma natureza que transforma o espaço urbano em local de atravessamento e estar, extensão natural dos seus campus Poder-se-ão acrescentar outros locais – por exemplo, o parque de ciência e tecnologia Avepark – mas, não se duvida, é na relação entre estes dois polos urbanos que mais se encontra a génese e a qualidade desta relação: um é outro!

prestígio, esperança e urbanidade.
Dir-se-á que nada de novo e que tantas outras universidades gera(ra)m tamanha relação com as cidades onde se implanta(ra)m e que tantas há cujo sentido e natureza se confundem com a urbe onde se situam. Verdade! Mas, à escala da região e do país, acredita-se que a realidade é tão singular quanto motivo de orgulho e, no bom sentido, de preocupação: orgulho porque relação única e singular feita de liquidificação de um relativamente ao outro, de ser um e outro ao mesmo tempo; preocupação porque, cada vez mais, só pode ser assim, exige-se que seja assim… não se imagina a cidade sem a universidade, não se imagina que esta possa ser noutro lado que não Guimarães.
Ao comemorar 50 anos, este é o maior legado deixado pela Universidade do Minho. E também o seu maior desafio e exigência: tornou-se parte inata de Guimarães, incrustou-se na vida e no tecido urbano, transformando a cidade de forma irreversível e irremediável; exige-se que seja ainda mais “parte da cidade”, que se confunda e dilua ainda mais, numa rede de dependência e relação que só o Bem produzido pela Universidade do Minho pode fazer entender…
Olhar para a história da Universidade do Minho não obriga a olhar para a história da cidade. Implicitamente uma é outra.
Olhar para o futuro da Universidade do Minho não obriga a olhar para a história da cidade. Obrigatoriamente uma será outra.
Esta é a grande lição destes 50 anos: podemos ser o que somos. Nunca o seremos sem o outro! E, juntos, seremos sempre mais! E como possibilidade de sermos melhores. Assim queiramos!


Subsídios para a história da 1.ª medalha olímpica portuguesa
- Guimarães no passado, Guimarães no presente
Henrique Pereira de Moraes
Este curto texto refere-se à comemoração do centenário da primeira medalha olímpica ganha por Portugal, na categoria de equipas, na prova de saltos em obstáculos a cavalo, em bronze.
Se é fácil ter o que relatar, mais difícil é escrever de uma maneira agradável para quem lê. Nas provas de obstáculos também é assim. Há saltos fáceis e difíceis e também é possível o trambolhão. Mas comecemos pelo que é fácil, isto é, ligar a história dessa medalha olímpica a Guimarães. Ora bem, um dos medalhados pertencia a uma família antiga da Cidade berço, a família de Margaride.
De resto a família há muito estava ligada à equitação. Parente do famoso mestre de ensino José Minotes, que, no seu tempo, em conjunto com um grupo de amigos deu muitos espetáculos de Alta Escola em Guimarães. Também da família os oficiais Alberto Margaride e José Margaride se destacaram no desporto equestre. O primeiro nas provas de ensino e salto de obstáculos nos primórdios deste desporto, o segundo no campeonato dos cavalos de guerra, que, hoje em dia, se chama a CCE – ensino campo e obstáculos.
Por outro lado, ainda há poucos anos, no Campo de S. Mamede, se organizavam provas de saltos de obstáculos que tiveram muito sucesso. Seu primo, Luís Henrique Margaride, em conjunto com Óscar Pires, pertencia à organização.
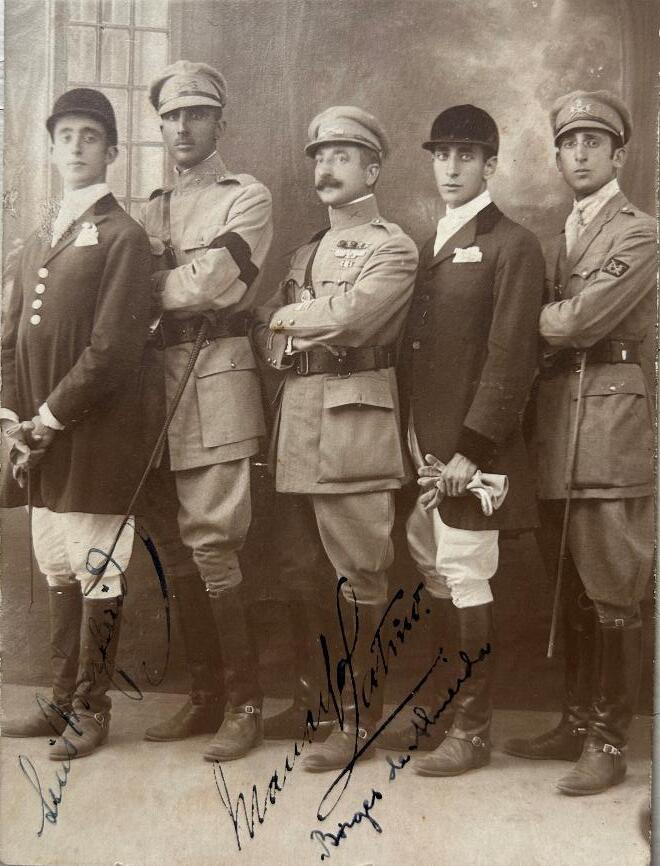


Luís Margaride não nasceu em Guimarães, mas seu pai, seu avô e demais antepassados de muitos séculos aqui viveram e nesta terra estão para a eternidade.
Luís Margaride montou o Profond, Borges de Almeida o Reginald, Hélder Martins o Avrô e José Mouzinho, o Hebraico, todos magníficos cavaleiros.




De todos o melhor classificado foi Borges de Almeida montando o Reginald (ver notícia da Revista Ilustrada). Este cavalo, nos seus últimos anos de vida e quando já não concorria, passou algum tempo em Guimarães comendo o magnífico feno de Creixomil. Como campeão bem merecia essa estadia minhota.



Outro cavalo que esteve escolhido para pertencer à equipa portuguesa dos Jogos Olímpicos de 1928, de nome Gaillard também saboreou a boa erva de Creixomil.
Mas já agora vamos à pequena história que envolveu essa equipa.
Em princípio o Reginald seria montado pelo seu cavaleiro habitual, José Júlio de Moraes. Quem fazia parte da equipa seria Hermano Margaride montando o Vencedor. O seu dono achou que o cavalo não estava em boa forma e por isso foi escolhido seu irmão Luís Margaride com Profond. Quanto a José Júlio Moraes, como tinha nascido no Brasil e não havia dupla nacionalidade, ficou o cavaleiro, mas foi o cavalo Reginald, montado por outro notável concursista, Borges de Almeida. Foram, brilharam e são recordados com saudade.
E se o Reginald foi o mais classificado convém contar a história deste cavalo, aproveitando este artigo, para prestar homenagem, justíssima, a quem teve grande responsabilidade neste feito desportivo – Mestre Joaquim Ricardo.


No princípio do século XX, a família Alte Mearim importou uns cavalos de França. Com eles veio o tratador francês de nome Brunô, que tinha ligação com os melhores mestres franceses.
Entretanto o Mestre Ricardo funda um picadeiro, que foi o berço de muitos e bons cavaleiros de Reginald

obstáculos, nos anos pós 1.ª Guerra mundial. Foi ele que nos despojos de guerra teve “olho” para um cavalo e aconselhou a sua compra. Houve dificuldades no convencimento do comprador, mas felizmente aconteceu. Reginald era um cavalo muito difícil, mas a mestria de Ricardo lá o domesticou e meteu-o a saltos. Algumas vezes o cavalo empinava-se dando uma volta no picadeiro bufando de fúria com Ricardo chibateando-o nas orelhas e cabeça até ele ceder (métodos violentos em uso, então). Tudo muda e evolui e até regras para uso das ajudas e castigos em prova.
Antigamente, cavalo que se negasse a saltar um obstáculo era severamente castigado com o stitck e espora. Hoje é proibido. Chegou-se à conclusão que a “nega” era devida, principalmente, ao não acertar o passo (que também acontece algumas vezes com os atletas saltadores).
Tão bem metido ficou o Reginald que ganhou em dois anos seguidos o Grande Prémio de Lisboa, 1921 e 1922, montado por José Júlio Moraes.
A propósito, em 1921, José Júlio Moraes tinha 15 anos. Ao segundo classificado informaram-no que haviam protestado na secretaria: o “miúdo” seria desclassificado. De imediato, F. Oom replicou que se não tinha ganho em campo jamais ganharia na secretaria (que bonito desportivismo).
Mestre Ricardo bem merecia uma homenagem da Federação Equestre. Era competentíssimo a tal ponto que José Beltrão, oficial de cavalaria, e um dos melhores concursistas do seu tempo, entregou-lhe, durante algum tempo, os seus cavalos para treino.
Em Guimarães não se perdeu o gosto pelo desporto equestre pois nas Gualterianas tem havido uma apresentação de carros de cavalos que, ao atravessarem o centro da cidade, dão animação e muita beleza.
Há alguns anos havia provas de garranos em passo travado. Folclore equestre, cheio de cor e animação e, curiosamente, com as mesmas regras e hábitos de provas semelhantes em Inglaterra. No concelho há vários locais e cavalos onde se ensina a montar e até há quem tenha cavalos de corrida, entrando em provas com assinalável êxito. O desporto equestre é saudável, bom para o corpo e para a mente. Já Churchill aconselhava os pais, perante muitos desastres de automóveis, a não darem carros aos filhos, mas sim cavalos.
Dito isto termino e, como estas linhas foram escritas em Guimarães, podemos aceitar o feliz acontecimento de há 100 anos, com mais esta pequeníssima ligação à cidade Berço.
Olimpismo em Guimarães... Uma história que a todos marca
Vasco Rodrigues


Falar dos Jogos Olímpicos é falar de um evento à escala global que causa emoção e paixão em todos os cantos do mundo. Na verdade, desde que o Barão Pierre de Coubertin, em 1896, ressuscitou os ideais desportivos da antiga Grécia, que de quatro em quatro anos, todos, para além dos apaixonados do desporto, vivem com redobrada emoção os eventos que compõem o certame.
Desta feita, estes decorrerão em Paris, entre 26 de Julho e 11 de Agosto do presente ano. Serão os trigésimos terceiros da era moderna, visto estarmos a aludir a algo que foi ressuscitado da Grécia antiga.
Volta o entusiasmo, o sonho de medalhas, o desejo de tornar real o lema do olimpismo “Citius, Altius, Fortius”; ou seja, o mais rápido, o mais alto, o mais forte! Milhões de telespectadores seguem pelas televisões os seus desportistas preferidos, emocionamse com os seus feitos, choram as suas derrotas.

Logótipo dos Jogos Olímpicos de Verão de 2024
A capital francesa merecerá ser destaque por outra razão. Assim, pela primeira vez o número de mulheres a competir será igual ao dos homens, numa clara manifestação de igualdade. Como modalidades estreantes, que as há sempre, destaque para o breakdance que se estreará como modalidade olímpica, enquanto as mascotes do certame serão as Phryges. Tratam-se de pequenos barretes frígios, que representam um forte símbolo de liberdade, inclusão e a habilidade das pessoas de apoiarem causas grandes e significativas. Surgirão bordadas com as cores vermelha, branca e azul, com o símbolo de Paris 2024 estampado na sua fronte.
Centremo-nos, agora, na relação do olimpismo com a cidade de Guimarães e na história e histórias dos atletas ligados à cidade ou aos clubes da cidade. Esta abrangerá uma série de modalidades que irão desde as coletivas (o andebol e o futebol) às individuais (atletismo, tiro, ténis, ciclismo ou taekwondoo), bem como aos jogos Paralímpicos onde um atleta proveniente de Guimarães entrou na eternidade e, ainda, nos Jogos

Olímpicos de Inverno, onde, apesar de Portugal não ter tradições de relevo, uma esquiadora com raízes vimaranenses já participou.
Comecemos, pois, pela primeira atleta a viver uma experiência olímpica. Natural da vila de Ronfe, AURORA CUNHA, teve grande destaque na primeira das três participações, que sucedeu em 1984, em Los Angeles. Aí, no local onde Carlos Lopes haveria de conquistar o primeiro ouro olímpico português, Aurora obteve um diploma olímpico, atribuído aos oito primeiros classificados, ao posicionar-se na sexta posição, a quatro segundos da medalha. Tal suscitou grandes esperanças para as participações futuras que, contudo, nunca haveriam de se concretizar, já que em 1988, em Seul, e, em 1992, em Barcelona, desistiu a meio da prova de maratona, sempre com lamentos à mistura. Bastará citar a entrevista que a atleta deu à Tribuna Expresso e em que confessou que, na Coreia do Sul, “o facto dos responsáveis federativos não me respeitarem por tudo aquilo que tinha feito no atletismo. Fui a única atleta que não levei o treinador comigo para os JO de Seul. Fui sozinha. E cometo um erro gravíssimo. Eu tinha uma maneira de correr diferente, até porque era uma atleta de pista, corria mais em bicos. Era representante da Adidas e o patrocinador chegou ao hotel e disse-me: «Gostaríamos que corresse com estes sapatos». E eu não tive ninguém que chegasse à minha beira e dissesse: «Aurora não vais correr com esses sapatos, vais correr com os sapatos com que treinaste». Foi um dos meus maiores fracassos e frustrações” . 5 Além disso, em Barcelona, “Com o calor, a humidade e o esforço desidratei por completo. Lembro-me perfeitamente que só passadas umas valentes horas é que aparece alguém da Federação para saber o que se passa com a Aurora

5 Cfr. https://tribuna.expresso.pt/entrevistas-tribuna/2017-12-03-Aurora-Cunha-Tive-cancro-e-e-a-primeira-vez-que-falo-nisto.-E-como-umterremoto-mas-Deus-foi-justo.-Nao-estava-preparada-para-ir


O certame de 1988, disputado em Seul, teve, ainda, sabor amargo para dois irmãos. Falamos de DOMINGOS CASTRO e DIONÍSIO CASTRO que se destacaram no atletismo de fundo. O primeiro esteve prestes a tornar em realidade o sonho de uma medalha já que caiu de segundo para quarto posicionado na reta final da prova. Ficaria a 36 centésimos de segundo do bronze e a 57 da prata, num epílogo dramático e cruel para o vimaranense, natural da freguesia de Fermentões. Sentiu, assim, a eternidade fugir-lhe entre os dedos, numa altura em que se apresentava como favorito, já que houvera conseguido tornar-se vice-campeão mundial no ano anterior em Roma. Aliás, para atender ao momento infeliz vivido por Domingos, poderemos citar o seu histórico treinador, Moniz Pereira, que, em entrevista ao Correio da Manhã de 16 de Junho de 2013, referiu que “O Domingos só não foi segundo nos 5000 metros nos Jogos Olímpicos de Seul, em 1988, porque o alemão da RFA [Dieter Baumann] e o alemão da RDA [Hansjörg Kunze] queriam ficar um à frente do outro, pelo que recuperaram terreno. Quando chegou a última volta ultrapassaram-no e ele ficou em quarto. Chorou toda a noite. Não me posso esquecer disso”7 .
O segundo, esse, haveria de desistir na prova dos dez mil metros para, em 1992, não conseguir completar a prova rainha do atletismo, a maratona. Voltando a Domingos, conseguiria participar em mais três eventos olímpicos (Barcelona, em 1992, Atlanta, em 1996 e Sidney, em 2000), sendo que jamais voltou a aproximar-se da tão ambicionada medalha, conquistou um 11.º posto nos 5000 metros, na capital da Catalunha, e uma 18.ª posição na maratona, na sua despedida do maior evento desportivo à escala mundial.
6 Cfr. https://tribuna.expresso.pt/entrevistas-tribuna/2017-12-03-Aurora-Cunha-Tive-cancro-e-e-a-primeira-vez-que-falo-nisto.-E-como-umterremoto-mas-Deus-foi-justo.-Nao-estava-preparada-para-ir
7 Cfr. https://www.cmjornal.pt/domingo/detalhe/moniz-pereira-eu-derrotei-os-impossiveis

Porém, a família dos gémeos não haveria de cessar com eles a sua participação nos Jogos Olímpicos. Com efeito, o primo destes, MANUEL SILVA, surpreendeu meio mundo ao conseguir os mínimos para o evento de 2000 na prova de 3000 metros obstáculos, sendo, por isso, selecionado sem estar no programa olímpico, sem auferir qualquer subsídio. Aí, apesar de surgir, apenas, com o 56.º tempo dos participantes, conseguiria prolongar a surpresa ao conquistar um belo 13.º posto. Atento a sua juventude, esperava-se que conseguisse um brilharete quatro anos depois, em Atenas. Contudo, tudo lhe correria mal não conseguindo chegar à final e ficando conhecido pelo “homem dos sapatos rotos”, atento às declarações feitas. Mais tarde, haveria de as esclarecer numa entrevista à Tribuna Expresso de 19 de Fevereiro de 2022 em que referiu:
“Eu tenho um problema de joanetes desde que comecei a correr e os meus sapatos, passado uma semana e na parte do joanete, rasgam completamente. Depois de terminar a competição, nuns Jogos Olímpicos, é tudo tão mediático e a capacidade dos jornalistas para tirar palavras de nós é tanta, que eu, de cabeça quente, falei de tudo e de mais alguma coisa. Falei até que tinha sapatos rotos e que não tive apoios. Mas foi de cabeça quente. Disse coisas que certamente a frio não diria. Só que, como os Jogos Olímpicos são uma competição mediática, a que toda a gente está atenta, há jornalistas que são do futebol, mas que têm a ambição de ir aos Jogos Olímpicos… Como eu disse coisas que feriram, que fizeram eco em Portugal, passei um mau bocado porque só no dia a seguir é que tive a plena noção do mal que tinha feito”8 .

Manuel Silva nos Jogos Olímpicos de 2000 em Sidney
O certame de 2004 teria outro vimaranense a participar, ainda que num desporto colectivo, o futebol. Falamos de FERNANDO MEIRA, que na altura militava no emblema germânico do Estugarda e que
8 Cfr. https://tribuna.expresso.pt/expresso/2022-02-19-fui-a-dois-jogos-olimpicos-fui-finalista-num-deles-ainda-sou-recordista-nacional-etive-de-emigrar-para-o-luxemburgo-onde-andei-a-varrer-lixo-e-a-apanhar-beatas-do-chao

representou a equipa treinada por um vimaranense de adopção: o bejense José Romão que muito jovem se estabeleceu em Guimarães para actuar no Vitória, aqui assentando arraiais. Meira actuaria em todas as partidas da equipa, mas, apesar desta contar com outros nomes como Cristiano Ronaldo, Hugo Viana, Bosingwa ou Danny, seria surpreendentemente derrotada pela Costa Rica e pelo Iraque, de pouco valendo o êxito perante Marrocos. O sonho do futebol garantir uma medalha olímpica morria de modo surpreendente e precoce na fase de grupos.
Mesmo assim, haveria de considerar tratar-se de “uma competição marcante (...) Viajei para a Grécia uma semana após ter sido operado à mão. Fui com uma tala para os Jogos Olímpicos, para jogar não tive problemas. É importante sofrer, serse patriota e ser português é sabermos sofrer e defender a camisola com honra”9 .


Os Jogos seguintes, que se disputaram em Pequim, em 2008, tiveram um representante vimaranense numa modalidade diferente, ainda que de larga tradição no concelho. Falamos da participação de MANUEL VIEIRA DA SILVA, no tiro, no escalão
9 Cfr. https://www.rtp.pt/noticias/jogos-olimpicos-2016/fernando-meira-repudia-veto-a-selecao-olimpica_d933915

fosso olímpico, que, na China, participou pela terceira vez no certame, depois de, em 1992, em Barcelona, ter conquistado um décimo primeiro lugar, para quatro anos depois, em Atlanta, nos Estados Unidos, conseguir um feito digno de realce ao conquistar um diploma olímpico como consequência do sétimo posto alcançado. Refira-se que, em Barcelona, na estreia olímpica, chegou a liderar a competição a 15 pratos do fim, mas a pressão sobre o, então, jovem resultou em dois falhanços consecutivos que o afastaram da final. Em Atlanta estava empatado com outros dois especialistas com quem foi à "morte súbita" e falhou, sendo relegado assim para sétimo lugar.
Por isso, partiu para a prova com o objectivo de entrar nos seis primeiros postos, atingindo por isso a final da prova. Contudo, a sua participação haveria de ser a pior das três, por causa de, como reconheceu, ser “o stress dos Jogos Olímpicos. Os treinos oficiais correram bem, mas a pressão é diferente na competição e faltou a tal sorte10 . Tal seria o sinal da sua pior classificação nas três aventuras olímpicas, tendo terminado esta competição no 27.º posto, o que se tratou de uma verdadeira desilusão.

Dulce Félix participou por duas vezes na prova de maratona.
No ano de 2012, disputaram-se os Jogos Olímpicos de Londres, em que uma vimaranense se estreou na prova rainha do atletismo, a maratona. Referimo-nos a DULCE FÉLIX que, apesar de, nesse ano, ter conquistado o título europeu dos 10.000 metros, ousou apostar na máxima distância das corridas, apontando aos dez primeiros postos11. Não o haveria de conseguir, logrando o 20.º posto. Voltaria em 2016, no Rio de Janeiro, para melhorar a sua qualificação, mas ainda aquém do sonhado. Dulce conseguiria um 15.º posto para confessar, posteriormente, em jeito de resenha, que “Nos Jogos Olímpicos nunca consegui realizar o que queria. Nos primeiros,
10 Cfr. https://expresso.pt/arquivo/desporto/manuel-vieira-da-silva-admite-que-esta-fora-da-final=f388095
11 Cfr. https://www.tsf.pt/desporto/jogos-olimpicos-2012/dulce-felix-a-procura-dos-10-primeiros-lugares-2681528.html/

em 2012, fui 21.ª, não corri o que realmente treinei. Depois, no Brasil, não me adaptei bem àquela temperatura, e também não me correu muito bem, apesar de ter saído de lá com um 15.º lugar. Mas acho que tinha tudo para fazer melhor”12 .
Os Jogos brasileiros haveriam de trazer, igualmente, três estreias de atletas vimaranenses em modalidades que, até então, nunca tinham tido participantes da cidade onde nasceu Portugal. Referimo-nos a Rui Bragança no taekwondo, a João Sousa no ténis e José Mendes no ciclismo.
BRAGANÇA partiu para o Rio de Janeiro cheio de sonhos. Cotado como um dos melhores atletas europeus na sua modalidade, por, até essa data, ter-se sagrado bicampeão europeu na categoria de pesos inferiores a 58 kgs, apenas haveria de conseguir conquistar um nono posto. Apesar de ter feito história, ao tornar-se no primeiro português a ser capaz de triunfar num combate olímpico, a verdade é que a sua eliminação dos quartos de final do seu torneio foi uma profunda desilusão, que o faria admitir que “Toda a gente que vai lá, vai para lutar pelo ouro. Pelo menos, sonha com isso. Mas a verdade é que faltou só um bocadinho de sorte. As coisas estavam muito bem preparadas. Deu para ver que no primeiro combate fizemos aquilo em que acreditávamos e vimos que isso estava certo. O combate seguinte já foi muito mais tático. E faltou-me aquela pontinha de sorte”13 . Assim, o nono lugar final soube a pouco, numa altura em que todos que o acompanhavam sonhavam com medalhas, ainda que a verdade é que “Quando nós falamos com atletas de outras nacionalidades, eles quase que têm pena de nós. Quando nós dizemos que temos que pagar isto ou pagar aquilo, ou quando dizemos que o nosso

Rui Bragança, por duas vezes, nos Jogos Olímpicos, sonhou com as medalhas.
12 Cfr. https://maisfutebol.iol.pt/mais-longe-e-mais-alto/modalidades/dulce-felix-agora-que-sou-mae-consigo-sofrer-mais
13 Cfr. https://maisfutebol.iol.pt/rio-2016/rio-2016-portugueses/rui-braganca-foram-os-melhores-jogos-olimpicos-de-sempre

centro de treinos é assim ou assado, isso para eles é impensável. Se as coisas não mudarem, é impossível repetir aquilo que nós fizemos até agora. O sacrifício foi demasiado grande e é impossível repetir”14 .
JOÃO SOUSA, no ténis, também fez história. O vimaranense que é o melhor jogador da história da modalidade no nosso país, venceu uma eliminatória no seu torneio. Assim, bateu o neerlandês, Robin Haase, pelos parciais de 6-1, 7-5, para ser eliminado na segunda ronda pelo argentino

João Sousa, o melhor tenista português de sempre, participou em dois certames olímpicos.
Juan Martin del Potro, que tinha na ronda anterior batido o lendário Novak Djokovic, apesar da boa réplica dada. Os parciais de 3-6, 6-1, 3-6, demonstram que a partida poderia ter caído para qualquer um dos lados e se tal acontecesse quem sabe se a medalha poderia tornar-se num sonho exequível. Em pares, ao lado de Gastão Elias, conseguiria também passar uma eliminatória para cair na segunda... depois de ter realizado as quatro partidas em, apenas, dois dias. Um sacrifício próprio de um Super-Homem, mas que o levou a dizer que “Não há grande coisa a fazer. Eles é que sabem, eles é que mandam. Realmente, da minha parte, se me pedirem uma nota de zero a dez, dou um. São situações que acontecem e não deviam acontecer. Deviam proteger mais os jogadores, não só os grandes”15 .
Por fim, falemos do ciclista JOSÉ MENDES, que na prova de estrada não haveria de conseguir melhor que o 53.º posto, numa prova em que o atleta assumiu que “o meu corpo não deu para mais”16 .
14 Idem.
15 Cfr. https://observador.pt/2016/08/09/joao-sousa-de-zero-a-dez-dou-nota-1-a-organizacao-dos-jogos-olimpicos/
16 Cfr. https://tvi.iol.pt/noticias/reportagem/ciclismo/o-meu-corpo-nao-deu-para-mais
Contudo, a história que mais marcou os vimaranenses no que toca aos Jogos Olímpicos, apesar de ter ocorrido nesse ano, sucedeu nos paralímpicos, evento que ocorre posteriormente e destinado a atletas com deficiências.
MANUEL MENDES, atleta que disputou a maratona, escalão T-46, conquistou a medalha de bronze na prova, após tê-la concluído com o tempo de 2 horas, 49 minutos e 57 segundos. Depois do grande feito, diria que “Andei no meu ritmo, nunca saí da minha zona de conforto, com as temperaturas, os favoritos foram caindo. Andei uma volta completa num ritmo tranquilo. Se me aventurasse teria 'estourado' e, na parte final, teria sido apanhado”17 .
Por fim, chegamos a 2020, ainda que, fruto da pandemia, a máxima prova desportiva mundial tivesse sido disputada no ano subsequente, em Tóquio.
Foram três os representantes vimaranenses que participaram nos respectivos torneios olímpicos, sendo dois repetentes e um estreante



17 Cfr. https://www.record.pt/modalidades/jogos-olimpicos/paralimpicos/rio2016/atletismo/amp/manuel-mendes-se-tivesse-juizo-podiafazer-uma-surpresa-e-fiz

Assim, o estreante foi RUI SILVA, na qualidade de capitão da, também, estreante na selecção nacional de andebol. Refira-se que o jogador foi determinante no apuramento para a prova ao marcar, no torneio de apuramento olímpico, um golo no último segundo, perante a favorita selecção francesa. Contudo, na prova, Portugal, apenas, bateu o Bahrein, perdendo contra o Egipto, a Dinamarca e a selecção anfitriã. Refira-se que, caso os Heróis do Mar, alcunha pela qual é conhecida a equipa, vencessem o Japão apurar-se-iam para os quartos de final da prova. Acabariam por perder por 31-30, depois de terem liderado a partida durante largos momentos, num desaire que soube a fel atendendo às expectativas e ao nível que a modalidade já atingiu no nosso país. No final da participação lusitana, o capitão vimaranense haveria de sintetizar o que ia na alma de toda a equipa ao dizer que "Não estou frustrado, estou triste. Acho que tínhamos capacidade para fazer mais um bocadinho e concretizar o objetivo de seguir em frente. Mas tenho um tremendo orgulho de ser português e por já termos concretizado o objetivo de estar aqui, nos Jogos”18 .

Rui Silva capitaneou a seleção portuguesa de andebol em Tóquio, tendo, também, apontado o golo que abriu as portas da equipa para entrar na grande competição.
Quanto aos repetentes, destaque para a participação de RUI BRAGANÇA, no taekwondo. Apesar de ter prometido “dar o máximo. O resto será consequência. O taekwondo é um desporto muito volátil. Temos os 16 melhores atletas do mundo e, tal como demonstraram nos últimos Jogos Olímpicos, nem sempre é o número um do mundo, naquele momento que vence a prova”19, perdeu logo no seu primeiro combate frente ao espanhol Adrian Vicente Yunta, acalentou a esperança de poder lutar pela medalha de bronze, caso o seu carrasco chegasse à final da prova. Não o haveria de conseguir, fazendo o atleta vimaranense terminar a prova no 11.º posto.
18 Cfr. https://www.record.pt/modalidades/jogos-olimpicos/toquio-2020/andebol/detalhe/rui-silva-e-a-eliminacao-de-portugal-estou-tristemas-orgulhoso-do-nosso-trajeto
19 Cfr. https://maisguimaraes.pt/rui-braganca-vou-para-partir-tudo/

Por fim, JOÃO SOUSA no ténis. O melhor executante da história da modalidade no nosso país foi eliminado pelo checo Thomas Machac em três parciais. Apesar de ter vencido o primeiro, no tie-break, haveria de perder os dois subsequentes por 6-4 caindo, assim, na primeira eliminatória da prova, o que o levou a referir que “satisfeito não estou, porque perdi. O ténis é assim. Não joguei mal, faltou um bocadinho de nível que tenho vindo a procurar há algum tempo. Tenho de dar mérito ao adversário, que fez um bom encontro.
Foram três sets bastante renhidos, com dois deles a caírem para o lado dele, com uma quebra de serviço de diferença, tive oportunidades para devolver e não consegui”20 .
No dia anterior, contudo, já houvera sido derrotado em pares, onde actuou ao lado de Pedro Sousa pela dupla da casa, composta por Nishikori/McLachlan por 6-1 e 6-4.
Nos jogos Paralímpicos disputados nesse ano, mais uma vez MANUEL MENDES se destacou. Assim, apesar de não ter conseguido igualar o feito alcançado cinco anos antes, quando conquistou a medalha de bronze, mesmo assim o seu oitavo posto na maratona foi um resultado digno de elogios apesar de não se mostrar totalmente satisfeito. Assim, confessou que “julgo que fiz um bom trabalho, mas não saio totalmente satisfeito, porque acho que tenho condições para fazer melhor, mas saio com um diploma, por isso não posso ir totalmente desiludido. Agora é descansar e reflectir e analisar o que não correu tão bem”21 .
Agora, segue-se Paris, 2024... onde todos os sonhos serão possíveis e o encontro com a eternidade está marcado. Quem conseguirá corresponder-lhe?
20 Cfr. https://www.publico.pt/2021/07/25/desporto/noticia/jogos-nao-tiraram-joao-sousa-buraco-encontra-1971740
21 Cfr. https://desporto.sapo.pt/jogos-olimpicos/paralimpicos/artigos/paralimpicos-manuel-mendes-queria-mais-na-maratona-odete-fiuzasatisfeita

40 anos dos Amigos de Urgeses
Equipa redatorial
No dia 4 de fevereiro deste ano em curso, “Os Amigos de Urgeses” comemoraram 40 anos de existência. Deste modo, nessa manhã iniciou-se o programa comemorativo, que foi assinalado com o simbólico hasteamento da bandeira nas instalações da coletividade, seguido de um Porto de Honra e do tradicional canto de parabéns, bem como uma missa em honra dos associados, complementada com uma romagem de saudade.

Uma cerimónia formal e comemorativa que no decurso dessa semana passaria ainda por atividades recreativas como torneios de sueca, dominó e matraquilhos, dando continuidade à abertura festiva iniciada em novembro do ano passado, espoletada pelo ato solene de entrega dos emblemas de filiação aos sócios com mais de 25 anos de ligação clubística. Uma abertura que proporcionou também o ensejo de um Jantar de confraternização ocorrido no pavilhão gimnodesportivo da sede do AE Gil Vicente que foi bastante concorrido e animado e contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal, Domingos Bragança, de diversas figuras locais e ainda de colaboradores e dirigentes da associação que seriam premiados pela sua dedicação e entrega à causa social e coletiva.
Porém, do programa comemorativo, que se prolongou ao longo do ano com diversas iniciativas, quer de índole lúdica e recreativa, como é timbre da coletividade, quer de foro cultural e desportivo, destacaram-se entre outras as conversas temáticas no âmbito do denominado “Café com a Comunidade”. De facto, um conjunto de tertúlias centradas em temáticas variadas como “Urgezes e sua História”, bem como um encontro denominado “Café com Pais”, focalizado numa conversa temática sobre a atuação e prevenção do cyberbullying; e ainda conversas informais e de saudade sobre os primórdios da associação, dando voz aos primeiros participantes do desporto organizado, em Urgezes , nos anos 60/70, que estiveram em relevo, recordando os seus primeiros passos desta maratona, calcorreada desde a partida até à atual meta, com muito ainda para andar.

Como não bastasse, houve ainda ensejo para conversar sobre “A importância do desporto na infância e juventude e a fixação das raízes na comunidade” que teve como convidados especiais os ex-futebolistas vitorianos.

no
Efetivamente, o desporto é obviamente uma das vertentes fundamentais destes amigos, enquanto associação desportiva, social, recreativa e cultural, que se assume como uma comunidade de partilha de interesses comuns que se apoiam mutuamente, cujo lema é significativamente “mais que um clube é uma família”. Deste modo, no terreno, salientar-se-ia a organização do “Torneio de Mãos dadas”, destinado à faixa etária juvenil bem como um Torneio de Veteranos, iniciativa que revela claramente a abrangência intergeracional da coletividade e os laços familiares que a solidificam. Laços que têm de facto na componente desportiva, quer no Xadrez quer na prática do futebol, vínculos firmados, que não só abraçam os veteranos, seniores e infantis, mas também mimam os benjamins, traquinas e petizes, mobilizando sadiamente as

gentes da freguesia de Urgezes. De facto, valências importantes dos Amigos de Urgeses, que, de pedra e cal, edificam para os valores e ocupação sadia dos tempos livres.
Realmente, constituindo-se como um ponto de referência da população da freguesia, movimentando centenas de atletas, dezenas de colaboradores entre os quais treinadores e outros apoios técnicos como massagista, fisioterapeutas e serviço de psicologia, estes amigos são um polo dinamizador da comunidade dignos dos maiores encómios
Ademais, a coletividade conta ainda com infraestruturas e apoios logísticos adequados que vem reivindicando e conquistando ao longo destas quatro décadas. Citem-se o Parque Desportivo, erigido com o apoio da Câmara Municipal, presidida por António Magalhães, e pela dinâmica da Junta de Freguesia socialista, presidida por Manuel Nunes, bem como dos dirigentes da época, entre os quais o saudoso presidente Germano Silva, que culminaria com a inauguração do complexo desportivo, em 12 de outubro de 1996.
Infraestruturas que ao longo do tempo têm vindo a receber benfeitorias diversas como aconteceu em dezembro de 2016, quando a Câmara Municipal dirigida por Domingos Bragança apoiou a construção de novos balneários, aumentando para oito as valências balneares de apoio aos dois campos de relva sintética do Complexo Desportivo.
Todavia, a associação atualmente presidida por Albino Sousa Pereira, é mais do que futebol. Com efeito, a coletividade foi crescendo e evoluindo ao longo dos 40 anos de existência e presta também prestimosos serviços no âmbito social, designadamente na sua creche, ATL e no Serviço de Apoio Domiciliário, valência que exerce funções de apoio na alimentação, higiene pessoal e habitacional, em especial da população mais idosa, em articulação com outras entidades. De facto, uma coletividade com estatuto de utilidade pública e integrada nas IPSS, e com sede própria, que congrega uma diversidade de serviços e pessoas solidárias.
Recorde-se que a creche foi inaugurada em 1 de junho (Dia Mundial da Criança), no ano de 2009, com a presença do Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social Vieira da Silva, no âmbito do projeto PARES, no decurso do mandato de Francisco Lamas, na presidência da instituição, e Carlos Leite, na Junta de Freguesia, coincidindo com os 25 anos da coletividade. Um espaço com 4 salas e 2 berçários, com a capacidade para 66 crianças que veio colmatar uma das mais prementes carências da freguesia.
Aliás, neste âmbito, seria ainda levado a efeito um outro “Café com a Comunidade” centrado nas problemáticas sociais da freguesia, a que se seguiram outras atividades reflexivas, nomeadamente focadas no contributo dos Amigos de Urgeses no desporto de Guimarães e a importância da associação na identidade

comunitária. Do programa das celebrações constou ainda um concerto para bebés, dedicado a pais babados.
Outrossim, no plano cultural, a coletividade mostraria serviço. Deste modo, foi também inaugurada a exposição fotográfica “Os Amigos de Urgeses 40 anos de Todos” e reeditado o livro “Contos e Lendas de Urgezes”, de Fernando Capela Miguel, que os Amigos de Urgeses lançaram no decurso da presidência de Manuel Atilano. Por sua vez, a nível de iniciativas editoriais consta ainda a apresentação do livro “Os Amigos de Urgeses 40 anos de Todos”. Uma edição numa espécie de dois em um, pois que, além de um minidicionário de Urgezes, compilado por Álvaro Nunes, aborda fundamentalmente o historial da coletividade, elaborada pelos jornalistas Bruno Ferreira e Tiago Dias, que incidirá a sua intervenção na abordagem dos monumentos da freguesia e outras curiosidades (ver espaço de recensões/sinopses).

Além disso, neste domínio e durante o Verão, um “Roteiro com História” percorreu os vários pontos de referência da freguesia e lugares marcantes da vida da coletividade; um evento que prosseguiu com um espetáculo musical a cargo da Orquestra do Norte, que atuou na Igreja de Urgezes.
Em síntese, 40 anos ao serviço do desporto e da solidariedade social que fazem da coletividade um exemplo sui generis da vontade das populações e seus representantes em lutar pelos seus anseios, curiosamente iniciados cerca de 10 anos após o 25 de Abril, que agora celebra 50 anos e que abriu novos caminhos e perspetivas nas comunidades rurais e suburbanas, decorrentes do poder local democrático.
Uma nobel associação e uma antiga freguesia cheia de pergaminhos, que o livro editado “Os Amigos de Urgeses 40 Anos Todos” darão mais detalhadamente a conhecer, que é fruto de Abril democrático.
Parabéns a todos os que lutaram pela coletividade e especificamente à comissão organizadora do 40.º aniversário, que teve na autarquia local, dirigentes associativos e em especial em Alberto Sampaio e Francisco Lamas um trabalho sério e competente digno dos maiores encómios.

30 ANOS DA UNAGUI
Direção
A UNAGUI – Universidade do Autodidata e da Terceira Idade de Guimarães representa um projeto visionário criativo e inovador dos seus fundadores no quadro do panorama das Universidades Seniores em Portugal22. Em primeiro lugar, pela qualidade do projeto23 pedagógico no apoio à troca de experiências e à aquisição de novos saberes e respetivo conhecimento; em segundo lugar, pela sua propensão e visão humanística em prol de uma fase de vida e respetiva faixa etária, em que, por vezes, o choque do fim do ciclo profissional, visto como produtivo, acarreta traumas e isolamento social, frequentemente graves ou irreversíveis; em terceiro lugar, pela visão da necessidade de um espaço fixo, único e de qualidade, que hoje é referência no espaço nacional e além-fronteiras. Isto pela qualidade e asseio das instalações e das virtudes inerentes à gestão e currículo académico, entenda-se este, como artístico/científico; finalmente, porque sempre aliou concertadamente as duas vertentes: a lúdico-artística e a científico pedagógica.

Como sabemos, a UNAGUI foi fundada tendo ao leme um triunvirato a mencionar: José Leite de Oliveira, Fernando Conceição e o Capitão Menezes. E outros que ajudaram numa fase inicial a que este sonho se materializasse. Também todas as direções e cooperadores deram uma inestimável ajuda para o sucesso contínuo e progressivo da nossa Instituição. A todos deveremos ficar gratos, e isto inclui em especial, colaboradores, discentes, docentes, amigos, mecenas, fornecedores e agentes financeiros24 .
Foi assim que se tornou, através deste grupo de intervenientes de excelência, num projeto inovador quanto à forma e conteúdo do mesmo. Por outras palavras, diremos:
Uma Instituição para ser um corpo vivo e sustentável a todos os níveis necessita de vínculos, símbolos,
22 Integra a RUTIS, associação de Rede de Universidades da Terceira Idade / Seniores, que congrega cerca de 300 universidades seniores por todo o país.
23 Foi constituída em ato público que ocorreu na Assembleia de Guimarães, em 25 de janeiro de 1994.
24 Não é intenção, deste texto, relevar ou enunciar todos os que ajudaram a nossa Instituição.

momentos e vivências que reforcem a sua coesão e união. Tudo isto rumo à concretização dos objetivos preconizados, vividos e sentidos por toda a respetiva família. Toda esta vertente, foi conseguida através das diferentes e diversificadas iniciativas levadas a cabo pelas diferentes direções ao longo destes 30 anos de existência, claramente gloriosos. São disso exemplo, as cercanas e longínquas visitas de estudo, passeios, convívios, deslocações, convites e deslocações por todo o canto deste país e pela Europa fora. Como também, contínuas exposições, apresentação de livros, conferências, palestras e tertúlias com distintos e ilustres convidados.
Tudo isto é fruto, e foi ao longo de todo o percurso dos 30 anos, de muito esforço, dedicação, profissionalismo e atenta gestão e maior fidelidade ao espírito fundador e objetivo social. Foi assim que a UNAGUI granjeou e firmou um relevante estatuto, bem como uma imagem de qualidade, em Guimarães.

Neste capítulo, é de flagrante e justo imperativo mencionar o papel fundamental de um timoneiro essencial na sustentabilidade do projeto. Esse homem foi, e é, o Capitão Menezes. A ele se deve a fundação partilhada, a sustentabilidade do projeto e a sobrevivência e ampliação do sonho nas mais variadas vertentes. Todos lhe devem o mérito, a nossa sincera gratidão e reconhecimento pelo legado.
Nesta perspetiva, torna-se um imperativo desta nova direção e seus membros individuais, deste quadriénio, continuar o projeto e sonho, burilando aqui ali certas vertentes ou opções estratégicas, tendo sempre como fim último o bem-comum da Instituição e da sua comunidade, no seu dia-a-dia.
Foi nesta senda que esta presente direção tentou dar uma acrescida solenidade à comemoração dos 30 anos da UNAGUI. Assim foi oferecido um programa de excelência na vertente dos Ilustres Convidados: Arcebispo Primaz, Dom José Cordeiro, na Eucaristia, na Igreja de São Dâmaso, e o Arcebispo Emérito, Dom Jorge Ortiga com uma conferência, no auditório, sobre o “Envelhecimento Ativo Sénior”. Assinalamos também a

vertente Musical e Lúdica de artistas convidados para o Concerto de Ano Novo, ocorrido na Igreja DE São Dâmaso. O esforço financeiro teve o condão de dar um sinal de gratidão e fidelidade a um projeto de sucesso, no passado, no presente, bem como para o futuro.
O supremo interesse da Instituição deverá ser, sempre, a incrementação dos laços de afetividade e familiaridade em todas as vertentes e em todos os tempos ocupacionais. Como sabemos a oferta formativo pedagógica é vasta e variada. Sendo opcional, oferece uma alargada escolha aos discentes, sabendo que contam com um generoso, avalizado e pro bono grupo de docentes que dão o seu tempo e o seu saber.

Para o leitor não familiar com a UNAGUI e que contacta pela primeira vez connosco, diremos que somos uma Instituição inteiramente privada. Sustentada pelas inscrições dos alunos, bem como pela ajuda preciosa da Câmara Municipal de Guimarães que, generosamente, nos proporciona um subsídio anual. Acrescem ainda outras subvenções ou ajudas de mecenas ou amigos, que contribuem para a sustentabilidade e continuidade deste projeto inovador e de sucesso.
Terminamos agradecendo a todos e a cada um todo o trabalho e ajuda à UNAGUI. A Instituição agradece! A nossa gratidão será eterna! Um Bem-haja!
Do Corpo de Scouts Católicos Portugueses ao Corpo Nacional de ScoutsA fundação do Escutismo Católico em Guimarães
José Miguel Salgado, Chefe de Núcleo


Em Guimarães, sempre se comemorou o dia 18 de maio de 1924 como sendo a data da fundação do escutismo católico nesta cidade, mas uma leitura mais atenta levou-nos a perceber que esse dia é “apenas” o dia da fundação do primeiro grupo (Grupo 6) e da primeira alcateia (Alcateia 4). Para ter havido as primeiras promessas nesse dia, terá que ter havido um tempo de descoberta e de preparação do escutismo católico. Ou seja, este artigo procura responder às seguintes questões:
- Como chegou o escutismo a Guimarães?
- Que dinâmicas se geraram para que se chegasse à fundação da Alcateia 4 e do Grupo 6, a 18 de maio de 1924?
- O Núcleo foi criado antes do dia 18 de maio?
A data de 27 de maio de 1923 está bem inscrita no coração do escutismo católico em Portugal. É por todos considerada a data da sua fundação e a ela associamos a formalização do Corpo de Scouts Católicos Portugueses (CSCP) através da publicação dos seus estatutos no Governo Civil de Braga.
Maior surpresa para muitos será, todavia, saber que, nesse dia 27 de maio, já havia scouts católicos organizados! Abrimos a nota ao Diário do Minho de 29 de maio de 1923:


“No passado domingo, 27 de maio, inaugurou a sua existência oficial na nossa cidade esta utilíssima associação juvenil. Braga viu desfilar pelas suas ruas, em perfeita ordem e aprumo, os novos «boy-scouts», primeiras flores de uma primavera de beleza que começa a sorrir cheia de encantos e esperanças no nosso país. A Comissão fundadora do Corpo que tanto trabalhou para lhe dar vida já depôs o seu mandato, entregando a direcção suprema da organização nas mãos duma Junta Nacional...”
Guimarães, mês de junho, pouco mais de duas semanas após o dia 27 de maio: três jornais de Guimarães anunciam/relatam a conferência que o Rev. Dr. Avelino Gonçalves proferiu no dia 13, na sede da Juventude Catholica de Guimarães.
O jornal «Gil Vicente» enche-nos as medidas: “Fez a apresentação do orador o presidente da Juventude e nosso presado amigo sr. Manuel Alves de Oliveira. Entrando no uso da palavra, o rev. sr. dr. Avelino Gonçalves refere-se à obra das Juventudes.... Refere-se, depois, à organização do Corpo de Scouting Católico que deseja ver espalhado por todo o país, e, como em Braga, organizado dentro em breve nesta cidade”.
Não podia haver relato mais eloquente e não podia haver local mais acertado para estas palavras. De facto, a Juventude Católica de Guimarães foi o grande viveiro dos primeiros dirigentes do Núcleo de Guimarães. Muitos deles conheciam-se já enquanto membros dessa Associação.
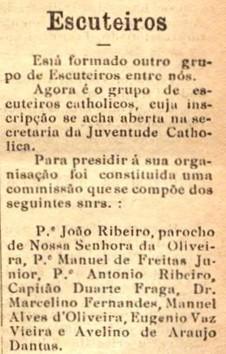
Figura 2 - [jornal O Commercio de Guimarães, 11 de setembro de 1923]
Manuel Alves de Oliveira, escuta da primeira hora (chefe da Alcateia 4 à data da fundação), e, anos mais tarde, chefe do Núcleo durante cerca de 2 décadas e meia, foi peça chave dos primeiros momentos. Esteve presente na conferência do Dr. Avelino Gonçalves, a 13 de junho, e foi o representante de Guimarães no congresso das juventudes católicas realizado entre 6 e 8 de julho de 1923, em Viana do Castelo, onde pôde ver ao vivo, quiçá pela primeira vez, os escutas católicos de Braga em ação.

Setembro: caminhava o verão para o seu término. O Anuário da região de Braga [1] remete-nos para esse tempo:
“O Núcleo de Guimarães é o segundo mais antigo da região de Braga. Em 2 de setembro de 1923 formouse a Comissão organizadora dos «scouts» católicos, constituída pelos seguintes Srs.: Rev.º Arcipreste Padre João Ribeiro, Padres Manuel de Freitas Júnior e António Ribeiro, Manuel Alves de Oliveira, Avelino de Araújo Dantas, capitão Duarte Fraga, Dr. Marcelino Fernandes e Eugénio Vaz Vieira...”
O «O Commercio de Guimarães» de 11 de setembro e o «Ecos de Guimarães» de 9 de setembro corroboram o que diz o Anuário.
Entretanto, de setembro a dezembro nada se sabe. Até que o jornal «Gil Vicente» de 16 de dezembro faz notícia que Franklim de Oliveira, o Comissário Nacional do Corpo de Scouts Católicos Portugueses (CSCP) visita Guimarães, a 9 de dezembro. Acompanha-o o Rev. Dr. Avelino Gonçalves, o Inspetor-geral. Não temos mais detalhes, mas parece razoável supor que se foi inteirar da preparação dos scouts de Guimarães.
A imprensa, perante a ausência de notícias, e já habituada ao fracasso de qualquer ideia diferente que aparecesse na cidade, impacienta-se e pergunta pelos Scouts!
Havia dificuldades, sim, sendo a mais forte, a associação clara do Corpo de Scouts à Igreja Católica, num período ainda de fortes divergências políticas na sociedade portuguesa, com republicanos e monárquicos a digladiarem-se em praça pública por um e outro regime.

Figura 3 - [jornal Gil Vicente, 16 de dezembro de 1923]
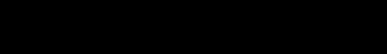

Figura 4 - [jornal Commercio de Guimarães, 25 de março de 1924]
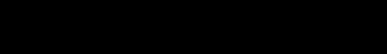
O escutismo confessional, nomeadamente o católico, proliferava já nos Estados Unidos, Itália e França, só para nomear alguns. O próprio Baden-Powell, bem nos alvores do escutismo, fora assistido pelo cardeal Bourne. em Inglaterra. Também o Pe. Jacques Sévin foi um grande precursor, numa história que bem merece ser mais conhecida e de quem o Apostolado da Oração publicou. em 2015. uma biografia.
A este propósito, é deliciosa a entrevista que Monsenhor Avelino Gonçalves dá ao Diário do Minho. a 13 de março de 1924. Diz:

“O Scouting, desde o seu início, segundo desejo do seu próprio Fundador, nunca foi neutro em matéria religiosa. Basta atender à primeira parte da promessa que todo o scout deve fazer, tal como saiu da mente de Baden Powell...”
Contudo, essa não neutralidade é tratada de uma forma completamente livre relativamente a outras opções escutistas e o Dr. Avelino Gonçalves, numa nota que hoje diríamos muito moderna, justifica as relações amigas que o CSCP mantém com as outras duas associações:
“Queremos viver em boas relações com ambas. Nem de longe nos anima o mais pequeno intuito de malquerença ou de competência. Se o fim para que todos tendemos é, afinal, o mesmo!”. Quando se refere ao progresso do Corpo de Scouts Católicos Portugueses, escreve-se: “E o sr. dr. Avelino Gonçalves, satisfeito, fala-me dos progressos da Organização. Além de Braga, onde ela atingiu admiráveis proporções, vêmo-la já em Guimarães, Póvoa do Varzim, Vila Real e Santo Tirso...”
Mas a ausência de novidades era só nos jornais! Primeiro, porque a nomeada direção do Núcleo de Guimarães, realizou a 2 de Março uma conferência de propaganda, muito concorrida, pelo Sr. Capitão Graciliano Marques, Comissário Diocesano de Braga, no salão da creche da Venerável Ordem Terceira de S. Francisco.
Segundo, porque a visita pastoral que D. Manuel Vieira de Matos, arcebispo de Braga, faz ao arciprestado de Guimarães, em março de 1924, vem dar força à tese de que este foi uma oportunidade de não deixar esmorecer a ideia do escutismo. O Sr. Antonino, no seu livro [16], relata detalhadamente aspectos da visita: “Convidados muitos rapazes da nossa terra, na sua maioria estudantes e empregados comerciais, e obtida a licença de seus pais e tutores, realizou-se num dos últimos domingos do mesmo mês uma reunião para a formação de patrulhas, a qual teve lugar no palacete Minotes, ao tempo residência do Rev. Arcipreste. Sr. Padre João António Ribeiro, onde se encontrava hospedado o prelado Bracarense.
Os rapazes, que estavam ansiosos por assistir a essa reunião que por certo muito lhes iria interessar, passeavam impacientes, uns nas varandas, outros nas salas e nos pátios. Cerca das quatro horas da tarde um automóvel pára junto ao portal, e logo aparecem quatro corpulentos scouts: Capitão Graciliano Marques, Comissário Geral de Lobitos, Álvaro Coutinho, Inspector de Fardamentos, Adolfo Cunha e Venâncio, Instrutores.
Momentos depois, estes dirigentes da região de Braga davam entrada na sala, seguidos da multidão de rapazes que se iam alistar no Corpo de Scouts Católicos Portugueses. Após algumas horas de conversa e de instrução sobre as saudações, ficaram organizadas três patrulhas. Já quási noite os ilustres visitantes

retiraram para a cidade fundadora do escotismo católico, plenamente satisfeitos pelos resultados colhidos na primeira démarche.
Os aspirantes de Guimarães, depois de terem recebido ordens sobre as instruções seguintes, saíram em massa, tendo ido dispersar à Praça de D. Afonso Henriques. À noite já os rapazes, que andavam radiantes de alegria, davam as boas noites aos seus camaradas com uma rasgada saudação”.
O Núcleo de Guimarães é criado na reunião da Comissão Executiva de 5 de abril de 1924, falando-se já da formação de uma Alcateia e de um Grupo. Faz-se publicação, a 9 de abril [Figura 5].
Ou seja, o Núcleo de Guimarães do CSCP passa a ter existência oficial, a 5 de abril, sendo já uma realidade nessa data!

A Diretiva Nacional n.º 5, de 13 de maio [Figura 6] relata as decisões da reunião da Comissão Executiva de 1 de maio (?), filiando a Alcateia n.º 4 - S. Gualter (ou D. Afonso Henriques, como aparece em várias publicações?) e o Grupo n.º 6 - S. Dâmaso. Ao mesmo tempo, na parte 6, nomeia o Capitão Duarte Ferreri Gusmão de Sousa Fraga como Comissário do Núcleo de Guimarães, o Padre José da Moita Reis como Capelão do Núcleo de Guimarães (nome com gralha porque não é «José», mas sim «António») e o sr. Eugénio Vaz Vieira como Inspector do Núcleo de Guimarães.
Entretanto, deixamos nas palavras do Sr. Antonino [16], o relato das vésperas e do dia da festa:
“O mês de Maio aproximava-se e sendo nesse mês que os scouts se deviam apresentar em público pela


primeira vez, foi determinado que as instruções, que até então se realizavam aos domingos nos claustros da Colegiada, passassem a ser todos os dias às seis horas da manhã e às sete da tarde, no Hipódromo José Minotes. Todos os rapazes preparavam o seu fardamento. No dia 15 de Maio foram distribuídos pela cidade os programas para a brilhante festa que se realizava no dia 18, e inaugurando-se assim o N. G. do C. S. C. P. Todos os rapazes andavam a passar bilhetes para o festival que se realizava no Hipódromo. Nos dias 16 e 17 já todos tinham de apresentar na instrução o seu fardamento, e foram estes os dias de maior azáfama. Uns preparavam ainda as suas fardas, outros procuravam madrinhas, outros ainda estudavam, por um simples papel, a promessa que iam fazer dentro em muito breve. No dia 17 à noite todos se foram confessar, para no dia 18 receberem a sagrada comunhão, começando neste momento a cumprir a sua promessa: - Cumprir os deveres para com DEUS, a Santa Igreja e a Pátria”.
E continua, já no dia 18 de maio, manhã cedo os rapazes foram chegando ao Campo José Minotes que se apresentava embandeirado com vistosos galhardetes. O dia ameaçava chuva. Com os Scouts apareciam algumas pessoas de suas famílias e era de ver como pelas 7,30 horas uma alegria viva enchia o Campo. (...)
Verdadeiramente triunfal a Marcha de 18 de Maio. (...) Mas aonde atingiu a maior imponência essa recepção foi na Praça de D. Afonso Henriques (...) Ali o carrilhão de S. Pedro fazia ouvir as notas argentinas do «Hino da Cidade» à passagem do Cortejo, (...). Até o próprio sol quis pôr a sua nota viva e acariciadora, pois que desde a organização da marcha, a chuva cessara e o céu abrira-se num azul esplendido, festivo. Pelo ar passavam em revoada, sorrisos, flores e os acordes da Banda do 5.º grupo do Corpo de Scouts Católicos Portugueses.
Vibravam as aclamações e, das janelas e varandas, desciam sobre os Scouts as flores. A passagem do cortejo pela rua da República não foi menos entusiástica, nem menos gentil o acolhimento que lhes foi feito até chegarem ao Largo da Oliveira. (...)
A entrada dos rapazes no Campo fez-se em coluna de patrulhas. Entrada solene, marcial, magnífica, soberba, dum efeito grandioso, inesquecível. Era a marcha para a grande solenidade dos Scouts de Guimarães, era uma das melhores festas a que Guimarães ia assistir, festa de Campo, festa de rapazes. (...)
Findara o discurso do Snr. Inspector-Mór, era chegado o momento da Promessa. Um silêncio absoluto reinava em todo o Campo, ouvindo-se como que se fosse uma só as vozes dos rapazes que descobertos e de braço estendido iam respondendo às perguntas que o Snr. Inspector-Mór lhes dirigia:
«Que desejais da nossa associação?»
«Desejamos ser Scouts Católicos Portugueses.»
e
iam prometendo pela sua honra e com a graça de Deus:

Cumprir os deveres para com Deus, a Santa Igreja e a Pátria, auxiliar o próximo em toda e qualquer circunstância e obedecer à lei do Scout.
Concluído este juramento as madrinhas adiantaram-se e colocaram nas palatinas esquerdas das blusas dos seus afilhados as insígnias da Promessa; a recordação daquele grande dia. Esta cerimónia foi coroada com uma estrondosa salva de palmas, e a Banda executou a Canção do Escoteiro”.
É verdadeiramente consolador para uma instituição quase centenária ter semelhante descrição do seu momento inaugural! Torna-se desnecessário acrescentar o que quer que seja, a não ser que passados 100 anos, o número de escuteiros cresceu e multiplicou-se. Se naquele primeiro dia, foram 63 os que fizeram a sua promessa, hoje são 3000 ativos, distribuídos por 53 Agrupamentos, em tantas outras paróquias do Arciprestado de Guimarães e Vizela, os que lhes seguiram e sucederam. Também em Guimarães, Baden-Powell viu bem acolhidas as suas ideias para uma juventude mais sã, mais comprometida, mais empenhada em ajudar a deixar o mundo um pouco melhor.
Nota final

Ainda assim, subsistem questões suficientes de interesse para que se prossigam e aprofundem os estudos. Também, não sendo o nosso mister, deixamos boa nota, ao longo do texto, de alguns nomes de personalidades importantes para o escutismo e que entroncam noutras instituições quer nacionais, como os membros do regimento de infantaria n.º 20, quer da cidade, como a Câmara Municipal, o Vitória Sport Clube ou a Sociedade Martins Sarmento. Finalmente, este artigo procura dar a conhecer, de forma resumida, a história da fundação do Corpo Nacional de Escutas em Guimarães, fazendo parte de um trabalho mais vasto que se deseja publicar ainda durante o ano de 2024.

Fontes de consulta
[1] Junta Regional de Braga. Anuário Região de Braga (1973).
[2] Junta de Núcleo de Guimarães. Indaba (2000-2015).
[3] Pereira, Carlos Alberto. Jornal Diário do Minho (artigos).
[4] Vicente, A. (2004). A introdução do Escutismo em Portugal. Lusitania Sacra 16, p. 203-245.
[5] Salgado, B. (1948). Radiosa Floração, Edições CNE.
[6] Reis, J. V. (2007). Corpo Nacional de Escutas - uma História de Factos. Edições CNE.
[7] Arquivo do Museu do Corpo Nacional de Escutas.
[8] Corpo Nacional de Escutas. Flor-de-Lis (1925-2019).
[9] Jornal «A Razão» (1923-1927), Arquivo Casa de Sarmento.
[10] Jornal «A União» (1920-1924), órgão do Centro Católico Português, Universidade Católica Portuguesa.
[11] Jornal «Diário do Minho» (1919 - atualidade), Biblioteca Municipal do Porto.
[12] Jornal «Ecos de Guimarães» (1922-1928), Arquivo Casa de Sarmento.
[13] Jornal «Gil Vicente» (1918-1924), Arquivo Casa de Sarmento.
[14] Jornal «Notícias de Guimarães» (1932-2012), Arquivo Casa de Sarmento e Arquivo Municipal Alfredo Pimenta.
[15] Jornal «O Commercio de Guimarães» (1884-1970), Arquivo Casa de Sarmento.
[16] História do Movimento Scout na cidade de Guimarães, Antonino Dias Pinto de Castro, 1927-1928.

APCG – Uma instituição com 30 anos inaugura novas valências Equipa redatorial
A Associação de Paralisia Cerebral de Guimarães (APCG), instituição particular de solidariedade social, criada em junho de 1994, que tão prestimoso serviço tem prestado em prol das crianças e jovens portadoras de deficiência, desde 1995, concretamente em Guimarães, Fafe e Terras de Basto, bem como mais tarde nos concelhos de Vizela e Felgueiras, tem estado a comemorar os seus 30 anos.

Com efeito, embora a instituição preste relevantes serviços nas áreas da reabilitação, atividades ocupacionais e no Lar Residencial, pretende, além destas valências, proceder à integração destas crianças e jovens nas suas comunidades de Inserção social que está já no terreno em atividades enriquecedoras como a boccia e a natação, bem como na sensibilização da população, como ocorreria no decurso do programa comemorativo de aniversário, nomeadamente na conferência subordinada ao tema “Diferentes Olhares sobre a Inclusão”, que teve lugar no Instituo de Design.
Trata-se, obviamente, de uma importante instituição enraizada na comunidade, cujos serviços ultrapassam as expectativas, mas que luta ainda com inúmeras carências para dar resposta às premências sociais dos dias de hoje…
Todavia, no passado dia 24 de maio de 2024, viveu momentos de regozijo ao inaugurar um novo centro de atividades e capacitação para a inclusão e um lar residencial, aumentando, assim, as respostas sociais para utentes que sofrem de paralisia cerebral. A Secretária de Estado da Acão Social e da Inclusão, Clara Marques Mendes, com o presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Domingos Bragança, com o Diretor do Centro Distrital de Braga da Segurança Social e com Joaquim Oliveira, presidente da instituição, descerraram a placa comemorativa do ato, num ambiente de grande entusiasmo e emoção.
Estas valências aumentam a resposta da APCG em 60 camas, embora as necessidades da população que

serve sejam muito maiores e exijam de quem de direito uma atenção continuada. Contudo, o Presidente da Câmara Municipal está atento e referiu que “A resposta social nesta área de intervenção é fundamental e prioritária. É a prioridade das prioridades”. Deixou ainda uma palavra de muito apreço a todos quantos trabalham na instituição, com destaque para o seu presidente, Joaquim Oliveira. Relembrou, por ser de inteira justiça, o trabalho incansável da vereadora da Ação Social, Paula Oliveira. À representante do Governo, Secretária de Estado da Ação Social e da Inclusão, Clara Marques Mendes, pediu muita atenção para a APCG e para as instituições congéneres.

Por sua vez, a Secretária de Estado felicitou a APCG por mais este desafio, o que considerou “uma verdadeira missão de serviço público, feito com amor, que transforma e promove a inclusão. Instituições como esta devem ser replicadas”. E concluiu afirmando que “quero ser a voz dos vossos anseios”.

Regista-se, aqui, para fazer história, o discurso do Presidente da Instituição, Joaquim de Oliveira, no decorrer desta cerimónia de enorme significado para a instituição, para os utentes e para as suas famílias, uma forma única de celebrar 30 anos de existência:
“Saúdo e agradeço a presença de todos vós neste ato e dia tão importante, que ficará para sempre na memória de todos aqui presentes. Um especial agradecimento pela presença da Exma. Sra. Secretária de Estado da Ação Social e da Inclusão, Dr.ª Clara Marques Mendes, do Ex.mo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Dr. Domingos Bragança, e do Ex.mo Sr. Diretor do Centro Distrital de Braga da Segurança Social.
No ano do nosso trigésimo aniversário, vimos, finalmente, inaugurar o novo edifício. Um projeto desde sempre identificado como fundamental para responder às necessidades e expetativas da população que a nós recorre. O CACI – Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão e o Lar Residencial respondem atualmente e respetivamente a 30 + 18 utentes, um número manifestamente inferior às necessidades da região. A extensa lista de espera para ambas as respostas é prova viva disso mesmo. Com esta obra, que hoje inauguramos, a APCG reúne condições, assim que celebrados os protocolos de cooperação com a Segurança Social, para dar resposta a mais 30 utentes em CACI e mais 30 utentes em Lar Residencial e suas respetivas famílias.

O presidente da Instituição no uso da palavra, na sessão solene – foto cedida pela APCG

Todo o processo de construção do novo edifício foi envolto em avanços e recuos, com uma pandemia que prejudicou francamente os custos e o prazo da obra, inicialmente orçada em 1.5 milhões e que derrapou para os 2.4 milhões de euros. Esta derrapagem obrigou a APCG a recorrer
Aspeto geral da sessão de inauguração das novas instalações - foto cedida pela APCG

à banca, de forma a honrar os compromissos assumidos com as partes envolvidas, principalmente com as famílias que há tanto tempo têm as suas vidas em suspenso. Há ainda investimentos essenciais para o funcionamento das novas instalações, nomeadamente equipamentos adaptados, que representarão mais custos para a instituição.
Não podemos deixar de referir, o importante contributo da Câmara Municipal de Guimarães no apoio para a compra destes equipamentos, assim como de todos aqueles que participaram na campanha 1€ por habitante.

Terminada a obra, novos desafios se cruzam no nosso caminho. Confiantes que estaremos à altura e muito nos honrará chegar ao dia do pagamento da última prestação dos empréstimos bancários.
Para a história vai contar a iniciativa, persistência, resiliência e coragem de alguns que foram o braço direito da Direção. Agradeço a todos os funcionários pelo carinho e dedicação com que tratam os utentes desta Associação. Agradeço a todos os nossos fornecedores, os nossos parceiros, por todo o apoio prestado, não esquecendo todos aqueles que se associaram a esta grande obra, contribuindo com os seus donativos. Mais uma vez, um especial agradecimento à Câmara Municipal de Guimarães no nome do Dr. Domingos Bragança e Dra. Paula Oliveira pelo apoio que sempre nos prestaram. O meu muito obrigado! A minha eterna gratidão a todos quantos se uniram para erguer esta obra tão importante para Guimarães e para todos os concelhos que apoiamos. Bem hajam!”
25 anos Tempo Livre - onde a vida acontece
Andreia Varges Barradas25


Chegar recentemente ao universo da Tempo Livre e ter a oportunidade de alinhar pensamentos que resultam num texto sobre tantos momentos de uma história em que não estive presente, não me surpreende. Não só pelo facto de a palavra ‘oportunidade’ fazer parte dos valores diários de trabalho desta cooperativa, criada a 22 de janeiro de 1999, mas também por ser este um lugar de ideias e experiências que permitem continuamente escrever novas histórias, num ciclo que se repete e se renova.
Com um olhar educado por experiências pessoais e profissionais, mas sobretudo por observar o resultado do trabalho desenvolvido por tantas pessoas dedicadas ao percurso de 25 anos da Tempo Livre, não foi tarefa árdua identificar os três pilares que suportam a já estabelecida ‘casa do desporto’ de Guimarães: o Ciclo da Vida, o Legado e o Futuro.
1. O ciclo da vida
Pensada inicialmente como uma proposta para fomentar a atividade física no ensino básico do 1.º ciclo escolar, e ainda sugerir a prática de diferentes modalidades desportivas, a verdade é que, a partir do momento em que a ideia é dirigida a António Magalhães, rapidamente o então Presidente do Município percebeu que uma simples iniciativa deveria ser mais ambiciosa e servir um maior número de pessoas e necessidades.
Intervir nas práticas do ensino básico por meio da atividade física já seria em si inovador e prolífico, uma vez que os hábitos saudáveis e de literacia desportiva melhor resultam quando incutidos desde cedo, mas imbuído no espírito que predominava no ambiente de trabalho de um grupo orientado por António Magalhães, o seu adjunto Amadeu Portilha, movido pelo sonho de diversificar o sistema desportivo em Guimarães, preparou os Estatutos da Tempo Livre, moldando a base da cooperativa que hoje experienciamos.
25 Coordenadora do Serviço de Comunicação da Tempo Livre

Entre os Estatutos, destaco três objetivos dos oito que constituem o terceiro ponto, por representarem o que eu considero a perspicácia e ousadia de sonhar um caminho, que se veio a traduzir num conjunto de distintas ações, capazes de se identificarem a partir do momento em que cumprem uma só missão - estar lado a lado com todas as fases do ciclo da vida da comunidade envolvida.
Vejamos como eles se relacionam com os projetos desenvolvidos pela Tempo Livre e com este conceito de ciclo da vida.
a) Fomentar a atividade do desporto, utilizando as infraestruturas existentes e criando as necessárias
Projeto ambicioso e necessário, a Cidade do Desporto veio possibilitar uma comunicação visual e prática aos vimaranenses e ao país, desta nova bandeira de Guimarães - levar o desporto ao cidadão.
Inaugurada em 2001, esta grande obra criou a Pista de Atletismo Gémeos

Programa dos Serviços Desportivos e Sociais na Tempo Livre ‘Miúdos Ativos’- com uma atividade na Fraterna – Centro Comunitário de Solidariedade e Integração Social
Castro, o Complexo Municipal de Piscinas e o Multiusos de Guimarães. É a partir deste momento que começa a ser sugerida uma maior diversidade de modalidades desportivas, capazes de chegar a todas as idades. Foi tão importante aumentar a oferta e qualidade de instalações que, para além do cidadão começar a integrar hábitos desportivos no seu quotidiano, também a conjuntura que envolvia os inscritos nos programas e profissionais da área, permitiu a introdução de novas modalidades no Concelho. Servem de exemplo a Natação Sincronizada, o Râguebi ou a Patinagem.
No que diz respeito ao crescimento da Tempo Livre, podemos também indicar as novas instalações desportivas como responsáveis pela possibilidade de aumentar o seu quadro de profissionais, sendo igualmente importantes para o desenvolvimento de novas valências, como a capacidade de gestão e a produção de

eventos.
b) Possibilitar à comunidade em geral e aos jovens em particular, uma alternativa mais saudável e enriquecedora para a ocupação dos seus tempos livres
Fundamental para levar a cabo este objetivo, são os Serviços Desportivos e Sociais da Tempo Livre.
Com 12 programas ativos e um alcance que ultrapassa 6000 inscritos, este serviço que considero ser a alma desta cooperativa, e aquele que integra de facto o ciclo da vida de modo singular, acompanha os seus utentes desde a mulher em fase de gestação, os bebés, as crianças e jovens dentro e fora da escola, os adultos nos seus momentos de lazer e no espaço profissional, doentes em fase de recuperação de determinadas doenças e ainda a fase da ‘reforma’ à qual prefere designar de ‘envelhecimento ativo.
É, sem dúvida, neste serviço, que a assinatura ‘Desporto para Todos’ - criada na construção da Tempo Livre, não se perde no tempo.
Para além do incentivo da atividade física, da partilha de literacia desportiva e de hábitos de vida saudável, este segundo objetivo completa-se com os inúmeros eventos que marcam a memória de todos aqueles que aderem às propostas do Multiusos de Guimarães, capazes de fazer parte das histórias que serão transmitidas entre gerações.
Receosamente visto como ‘elefante verde’ da cidade, o Multiusos desmistificou esta ideia que pairava entre o inconsciente coletivo, com criatividade e empenho, podendo afirmar que desde a sua inauguração17 de novembro de 2001, é o verdadeiro “Palco das Emoções” de Guimarães, tendo já acolhido mais de 900 eventos, percorrendo as áreas do desporto, do espetáculo, de convenções ou grandes feiras.
c) Dotar de conhecimentos técnicos os agentes envolvidos nas diversas modalidades
Serve de combustível ao cumprimento deste objetivo, o Centro de Estudos do Desporto de Guimarães (CED-G). Implementado em 2018, esta ramificação da Tempo Livre com uma vertente mais científica, tem promovido o debate e reflexão sobre várias temáticas da área, desenvolvido estudos e relatórios, bem como tem vindo a produzir programas de capacitação e formação.
Seis anos depois, o CEDG esteve envolvido em cinco projetos europeus, realizou mais de 20 estudos com valor científico e mais de 50 formações em variados temas relacionados com a sua área de atuação.
Em suma, são as instalações que em simultâneo permitem aos pais, filhos e avós, usufruir dos benefícios

de exercício físico e lazer num espaço comum, os programas que se ocupam de criar a possibilidade de momentos de bem-estar e felicidade e ainda os profissionais qualificados, os agentes responsáveis de uma incubadora de ideias e experiências, capaz de estar lado a lado com variadas fases da vida.
Tudo aquilo que não é visível ou palpável, corre o risco de se perder entre os vários momentos que dão lugar a novas histórias. O legado inscrito pelas ações da Tempo Livre não tem a pretensão de exibir, mas sim de servir e integrar novas fases, que naturalmente se constroem à medida que a vida acontece.

Cerimónia de Abertura da Cidade Europeia do Desporto 2013, no Multiusos de Guimarães
Para que novas fases se desenvolvam, com integridade e criatividade, não será possível deixar passar em branco as circunstâncias que prepararam o caminho para novos presentes e futuros. Por isso mesmo, servem de apoio os livros e vídeos editados, os testemunhos que preenchem, por exemplo, o espaço do podcast Memória do Futuro. Testemunhos que, como o próprio nome do programa indica, serão os protagonistas das memórias do futuro.
Ainda assim, apesar de já existirem materiais que comunicam relevantes ações, não pude deixar de pensar: qual será o maior legado deixado pelas mesmas à própria Tempo Livre?
Em resposta, selecionei alguns exemplos capazes de o revelar.
Talvez o maior momento que revela algum conteúdo desse ´legado´, seja mesmo a nomeação de Guimarães a Cidade Europeia do Desporto em 2013. Não pela exposição mediática e por ser a primeira cidade, em Portugal, a conquistar este título, mas por todas as valências que também deixou no espírito de trabalho da Tempo Livre, a entidade que pensou e concretizou tudo o que parecia ser um sonho.
Identifiquei ainda, no plano de comunicação desta ousada iniciativa, o lema ‘Guimarães não para’.

Sendo esta cooperativa o motor de mais de 100 eventos e responsável pela orientação de todo o processo de candidatura, não poderia passar em branco, todo o espírito que se fortificou nessa época e que perdura até hoje - a capacidade de idealizar e rapidamente concretizar.
Outro possível exemplo que me ajudou a identificar esta capacidade, foi o torneio de Futebol e Voleibol de Praia, no ano de 1999, criado no âmbito da introdução de novas modalidades no Concelho. Guimarães não tem praia, mas o evento foi produzido à porta do histórico Pavilhão Inatel – Almor Vaz, com toneladas de areia e arrojo. Com tamanha prova dada, não sinto necessidade de mais palavras acrescentar. Julgo sinceramente que, aqui, as ações falam mesmo por si.
Com a CED 2013, os vimaranenses vibraram de orgulho pela sua cidade e foram seduzidos pelo desporto, ao mesmo tempo que a Tempo Livre aumentou o alcance da sua missão, enquanto entidade promotora da atividade física e de diferentes modalidades desportivas.
Identifico, assim, um duplo legado. Pois se serviu a Tempo Livre, também serviu a comunidade. Atualmente a percentagem de praticantes regulares de exercício físico em Portugal é de 22%, estando Guimarães acima da média nacional com 11 pontos percentuais (33%).
Vinte e cinco anos depois, a Tempo Livre percebeu que o propósito da sua atividade - proporcionar momentos de felicidade por meio do lazer e da atividade física, é algo inconstante e com interferências externas suficientemente ameaçadoras. Condição natural, uma vez que o desporto potencia as capacidades físicas e mentais do ser humano, mas também lida com as suas fragilidades.
Ainda na atualidade, poderíamos dizer que também os eventos do Multiusos de Guimarães dependem de uma boa conjuntura económica e visão estratégica.

Prevendo este facto, e com a noção Apresentação

de que o tempo de hoje não substitui o futuro, foi a partir de uma decisão pragmática que a Direção desta cooperativa decidiu repensar o seu caminho e encontrar novas diretrizes sustentáveis.
Recorrendo a um Plano Estratégico, criado por uma empresa de consultoria com dimensão internacional, foram identificados 5 eixos de ação, 21 objetivos estratégicos e 112 macro atividades a concretizar até ao ano de 2027.
Considero esta decisão, sobretudo, responsável. Construir um legado que se manifesta em 200 mil acessos por ano nas suas instalações, ter milhares de pessoas que fazem parte dos programas desportivos e sociais, ser considerada uma entidade com capacitação para intervir em palestras e transmitir conhecimento, é em si, significativo.
Por tanta vida, não só a noção de responsabilidade surgiu pelos meus pensamentos. Confesso que, ao analisar um legado com capacidade de falar só por si, e com bases para perdurar, questionei a verdadeira necessidade de um plano estratégico.
Contudo, quando despertei para a essência da Tempo Livre – intervir com criatividade, planeamento e trabalho à medida que a vida acontece - respondi à minha dúvida com uma frase de Marthin Luther King, que muito reflete tantos episódios de uma história que ainda só vai nos seus 25 anos de existência: “se eu soubesse que o mundo acabava amanhã, ainda hoje, plantaria uma árvore”.


O número é redondo, mas o caminho nem sempre foi. Na realidade, nada diferente do nosso crescimento, das nossas vidas. Mas ousar sonhar é aquilo que de melhor temos e lutar para que os sonhos se transformem em realidade, às vezes naquela com que nunca sonhamos, será o ponto de partida para nos sentirmos felizes.
No ano em que completamos o décimo aniversário, o Laboratório da Paisagem é a prova de que “valeu a pena”. Valeu a pena ousar na criação de um centro de investigação ambiental e de educação, para atuar no contexto local. Valeu a pena acreditar que a ciência tem um papel fundamental no crescimento das cidades e que o conhecimento científico é o melhor aliado para a transição verde que, hoje, todos defendemos.

Tendo a acreditar que criar hoje a instituição teria sido mais fácil, mas ter a ousadia de a criar em 2014, foi ver à frente de muitos.
O Laboratório da Paisagem é, hoje, um ator incontornável na investigação ambiental aplicada ao território e na educação para a sustentabilidade, com reconhecimento local, nacional e internacional. O modelo que o Município de Guimarães e as Universidades do Minho e de Trás-os-Montes e Alto Douro ousaram montar tem granjeado uma projeção nacional e internacional importante e não será por acaso que tem sido replicado.

Hoje, o Laboratório da Paisagem lidera, ou é parceiro, de diversos projetos nacionais e internacionais, procurando atuar em áreas tão diversas como a biodiversidade, os recursos hídricos, as áreas verdes, o clima ou a saúde e bem-estar, mas fazendo-o sempre de uma forma integrada e multidisciplinar, assumindo que a melhor forma de construirmos os nossos projetos é não abdicarmos da interligação entre a investigação e a educação.

Com a Investigação aplicada ao território, o Laboratório da Paisagem tem sido capaz de desenvolver diversos projetos nas áreas da biodiversidade, dos recursos hídricos ou da economia circular.
Mas, 10 anos integram largos sonhos, sorrisos, mas também dificuldades. Da dificuldade de ver acontecer até ao momento em que se reconhece nos sorrisos, nas opções e nas palavras o contributo para a mudança. Mérito de quem desta instituição fez e faz parte. E de quem, estou certo, um dia fará. As instituições fazem-se de pessoas e, modéstia à parte, temos, e tivemos, das melhores. Dedicadas, apaixonadas, cientificamente competentes. Foram sempre elas a força motriz de um caminho de superação, e de crescimento, que contribuiu para o caminho de Guimarães na área do desenvolvimento sustentável.

O Laboratório da Paisagem realiza, anualmente, mais de 800 atividades de Educação Ambiental dirigidas aos mais diversos públicos, e coordenada o programa ambiental local PEGADAS que chega a todas as Escolas do Concelho, e está agora a ser repl
Cumprir a primeira década, suportada por um crescimento sustentado, deixa-nos orgulhosos, mas também nos aumenta a responsabilidade para os anos vindouros.

Guimarães continua em transformação, almejando, agora, atingir a neutralidade climática até 2030, e sabemos bem que até lá o caminho continuará a ser árduo, obrigando a grandes alterações comportamentais no nosso dia-a-dia. É para esse caminho que podem continuar a contar com o Laboratório da Paisagem. Nas Escolas, na Comunidade ou nas Empresas. Fazendo aquilo que gostamos: ciência. “Por vezes, temos de olhar de perto, para vermos mais longe”.

Guimarães oferece rota de património industrial Equipa redatorial
Numa parceria entre o Turismo do Porto e Norte de Portugal e a Câmara Municipal de Guimarães foi lançado este Verão o Roteiro do Turismo Industrial de Guimarães, que engloba seis empresas aderentes.
O projeto, que visa a valorização do património histórico-cultural da região do Vale do Ave e particularmente a vertente do turismo industrial, pretende incrementar a oferta de visitas a fábricas em laboração e equipamentos museológicos ligados a complexos industriais vimaranenses e compreende unidades de diversa índole do tecido empresarial do Vale do Ave.

Deste modo , além da empresa da Indústria têxtil Coelima, fundada em 1922, em S. Jorge de Selho, com mais de 100 anos de experiência nas técnicas ancestrais e recentes tecnologias na área, bem como a Lameirinho, empresa de têxtil-lar, na mesma freguesia, os visitantes têm também ensejo de desfrutar visitas as empesas mais recentes como a Filasa, em Nespereira, uma referência no setor da fiação, tinturaria e estamparia em fio e ainda Lasa, inicialmente dedicada à venda de lenços e panos de cozinha, que a partir dos anos 80 se expandiria pelos ramos das toalhas em felpo.
Porém, a um nível tradicional da indústria vimaranense, o roteiro contempla também a Belo Inox, em S. Claúdio do Barco, uma referência nas cutelarias e inovação com mais de 70 anos de existência; e ainda na freguesia de Ponte, a empresa de equipamentos de refrigeração Jordão, que nascida em 1982, se consolida como líder em equipamentos de conservação e exposição alimentar, refrigerados e aquecidos.
Guimarães assume-se deste modo como uma cidade monumental e histórica, consagrada pela UNESCO, que não para nos limites das suas muralhas, mostrando a sua vitalidade e tudo aquilo que se faz bem feito.

Torre da Alfândega Equipa Redatorial
No dia 3 de agosto/2024, no decurso das Festas Gualterianas e após dois adiamentos anteriores, foi inaugurada a requalificação da Torre da Alfândega, cujo projeto conta inicialmente com a assinatura da empresa Camacho Engenharia, sediada em Guimarães e, posteriormente, com a execução da firma Construções F. M. Magalhães, com sede em Barcelos. Um empreendimento que foi levado a cabo sob a alçada da Direção Geral da Cultura do Norte e a validação tutelar da Direção Regional do Património Cultural, em sintonia com os serviços técnicos camarários.
De facto, a obra iniciada em fevereiro de 2020, após seu anúncio em 2016, financiada no âmbito dos fundos europeus 20/30, passaria por duas fases distintas, vindo a reiniciar-se, posteriormente, a partir do terceiro trimestre de 2022, com a reformulação do projeto de arquitetura. Obras que apontam para um investimento final na ordem de 1 milhão e 300 mil euros, face a onerações devidas a vários imprevistos, não só decorrentes de trabalhos complementares como também delongas e adiamentos. Efetivamente, estando prevista abrir ao público em 24 de Junho, a data inaugurativa seria inviabilizada pela prorrogação do prazo de requalificação, devido ao aparecimento imprevisível de fendas estruturais no paramento norte.
No entanto, não obstante as dificuldades de percurso, em consequência de imponderáveis e sucessivas intervenções, a torre onde se inscreve ”Aqui nasceu Portugal” é, agora, um local turístico e patrimonial, onde é possível ascender ao seu último piso (terraço) e às novas vistas da cidade, uma vez que o espaço estará acessível ao público, através de uma caixa de escadas de ferro e um ascensor destinado a pessoas com mobilidade reduzida.


Ademais, no seu interior, estará patente um núcleo expositivo e interpretativo da muralha e das suas torres defensivas.
Realmente, uma recuperação que permitiu ainda reabilitar o edifício contíguo da Rua dos Anjos, propiciando o acesso à torre e que avançou, sob a alçada técnica da tutela, de acordo com as premissas técnicas e procedimentos adequados de conservação, que passam inclusive por precaver as infiltrações de água, a entrada de roedores e o desenvolvimento de raízes suscetíveis de danificar o seu miolo.
Todavia, a despeito de todas as vicissitudes, a Torre de Alfândega aqui se erige altaneira e refuncionalizada, que, como disse Domingos Bragança, Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, na sua intervenção institucional, “eleva o orgulho vimaranense”, perante o resultado notável conquistado, propiciador de “um sentimento íntimo de um trabalho bem conseguido”. Realmente, para além da recuperação de fundo, plenamente conseguida, apesar da sua complexidade e especificidade, são soberbas as vistas noturnas avistadas do cimo da torre, abrilhantadas, nessa noite de inauguração, pelas iluminações feéricas das Festas Gualterianas. Uma situação que mereceria por parte do presidente da edilidade a expressão de agradecimentos aos serviços e equipas técnicas implicadas, bem como a todos os autarcas e vimaranenses, em particular a João Bastos e Torcato Ribeiro pela sua ação individualizada e pertinente.
Na sessão pronunciar-se-iam ainda a arquiteta Margarida Marques e o engenheiro Joaquim Carvalho, que sumarizariam os aspetos técnicos e dificuldades inerentes ao projeto.
Porém, o encerramento da cerimónia inaugurativa ficaria a cargo de António Cunha, presidente da Comissão Coordenadora da Região Norte, que elogiou o saber acumulado de Guimarães em matéria de recuperação do seu património e a sua fruição pública pelos residentes, expressando o seu louvor à cidade que “nos habituou a ver como as coisas são feitas, em especial perante um espaço cheio de cicatrizes que foram eficazmente moldadas”.


E terminaria com um apelo-aviso: “só espero que a torre não encerre ao fim da tarde!”, adivinhando o fruir do pôr do sol da cidade e as “selfies” amorosos resultantes do espetáculo.


Entrementes, sobre as antigas muralhas de Guimarães, relembramos o título “As Muralhas de Guimarães, monumento nacional”, de autoria de Lino Moreira da Silva, que Osmusiké Cadernos 4, em 2022, (páginas 485 a 514), publicaram oportunamente, que poderão complementar este assunto.
Quanto à Torre da Alfândega, também conhecida por Torre das Biscaias, nome que terá tomado do local de sua implantação, sabe-se que adotaria esta denominação graças ao antigo edifício da Alfândega, outrora instalado nas proximidades, em cujo imóvel esteve colocada a estátua de duas caras, que hoje se instala na Oliveira. Ora, a torre é efetivamente uma sobrevivente da cerca fortificada erguida em volta da vila, durante a segunda metade do século XIII e décadas iniciais do século seguinte. Na realidade, juntamente com as Torre dos Cães e Torre Velha que tinham funções de vigilância e complementavam as Torre da Guia, Porta da Vila e Santa Luzia, munidas de acessos ao interior da vila, somente a Torre da Alfândega, conjuntamente com o troço (e adarve) da muralha da Rua Alberto Sampaio resistiriam (parcialmente) às demolições ocorridas no início do segundo quartel do século XVIII, que se estenderia até ao século XX. Com efeito, depois da constatação da inutilidade das muralhas como meio de defesa, erigidas pelos reis da primeira dinastia, em especial D. Dinis, o seu antecessor e o filho, as muralhas perderam a sua importância após a Guerra da Restauração, não só perante a construção crescente de casas extramuros, bem como pela perceção da utilidade da pedra das muralhas para outros fins, designadamente edifícios de instituições e

empedramento de ruas. Com efeito, a apropriação do granito das muralhas cresceria a olhos vistos, em especial após a resolução de 4 de agosto de 1767 do rei D. José, que permitiu a apropriação da pedra e o aforamento de terrenos públicos adjacentes às muralhas, mediante o pagamento de rendas à Câmara.
Como tal, também a Torre da Alfândega não ficaria imune nem escaparia à “gula” parcial da demolição, em particular após a permissão régia de 6 de dezembro de 1800, que autorizava o juiz de fora e a Câmara Municipal a demolirem as torres e as muralhas da cerca. De facto, a partir de 1812, muita da pedra se partiu da Torre da Alfândega, que pedra a pedra seria vendida e até desviada, enquanto os espaços de sua implantação e vizinhança, como seriam alguns terrenos da Rua do Anjo, passariam, no transcurso do tempo e por via do aforamento dos terrenos públicos afetos às muralhas para as mãos de vários proprietários e seus herdeiros.

A Torre da Alfândega como painel publicitário, c. de 1924 (Fotografia da Colecção da Muralha), in Amaro das Neves, A Torre da Alfândega - das origens ao dia de hoje, março 23, 2016
Como é óbvio, com o tempo transcorrido, a Torre da Alfândega seria posteriormente rodeada por vários edifícios, quer a nascente quer a poente, pelo que apenas a sua parede frontal escaparia à “fúria demolidora. Uma superfície mural e fachada que durante vários anos serviria como pano de fundo de expositor publicitário, até que, na década 70 do século XX, passaria a albergar nas suas paredes a frase emblemática que ainda hoje conhecemos: “Aqui nasceu Portugal”. Recorde-se aliás que nestes tempos, mais especificamente em 1836, até uma torre do próprio Castelo

de Guimarães seria objeto de uma proposta de demolição por parte da Sociedade Patriótica Vimaranense (SPV), com o objetivo de obter pedra para o calcetamento de ruas. Felizmente, uma votação que se saldaria por 4 votos a favor e 15 contra a demolição.
Relativamente ao atual dístico simbólico “Aqui nasceu Portugal”, colocado na Torre da Alfândega, crêse ter sido apropriado pela cidade, após o seu uso pelo conferencista Agostinho de Castro no decurso de uma conferência proferida na Sociedade Martins Sarmento, em novembro de 1927. Um dito emblemático que mais tarde seria também adotado pela Câmara Municipal, que autorizaria a sua instalação na fachada da torre, no início da década de 70 do século passado.
António Xavier, ex-Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, no seu depoimento alusivo ao seu mandato, publicado nestes mesmos Cadernos, a propósito do 25 de Abril, aborda este assunto e dá-nos algumas informações sobre a colocação desta inscrição na fachada da torre.

"Guimarães saúda-vos": Jornal Português, n.º 63, 1946 (imagem disponibilizada por Paulo Cunha). In, Amaro das Neves, Pedras que falam (Aqui Nasceu Portugal) - parte II, Março 28, 2017
Em conclusão, uma obra de recuperação patrimonial e turística digna dos maiores encómios, a demonstrar uma nova visão dos tempos, capaz de suscitar novas “selfies” de uma cidade monumental e moderna, que, infelizmente, ao longo destes últimos tempos deixou fugir preciosidades notáveis e que, como diria Mário Cardoso, transformaria a urbe numa “barriga inchada que … rebentou um cinto, no último furo”…
Adrede, recordemos também, à laia de requiem, a demolição do belo Café Oriental, inaugurado em 1925 e sacrificado em 1967 para instalar uma agência bancária…
Salvé, por isso, estes renovados tempos de consciencialização dos valores patrimoniais que ora se levantam e têm permitido salvaguardar e preservar o que (ainda) e muito de valioso resta, nesta bela cidade…


Os fornos de olaria voltam a aquecer a alma da Cruz de Pedra
Elisabete Pinto26
A forte e diversificada tradição laboriosa das gentes de Guimarães faz parte da identidade comunitária, encontrando-se no presente um processo de valorização das marcas de um passado glorioso em que alguns ofícios desempenhavam uma função distintiva na afirmação e projeção da terra indissociavelmente ligada à fundação de Portugal.
O espaço público é um património comum, um elemento central na estruturação dos usos e na construção mental, com significativos impactos afetivos, que os seres humanos estabelecem com os “seus” lugares, unidos por vínculos de vivências pessoais e comunitárias representativas da ligação resultante da residência, do trabalho ou do lazer.
O caso da Cruz de Pedra, na freguesia de Creixomil, surge como um exemplo paradigmático dessa relação sentimental ao lugar, num contexto que cruza a memória de um ofício que se apagou e a vontade de transmitir às gerações vindouras esse legado que enobrece o caráter sui generis daquele território atualmente em ebulição funcional.

26 Jornalista, formadora e investigadora de temas de história de indústria em Guimarães.

1. Preservar um legado comunitário
A recente inauguração do Centro de Artes e Ofícios Tradicionais permite antever um rumo mais comprometido no sentido de aprofundar a divulgação e exploração dos saberes e das práticas dos antigos mesteres de Guimarães, no diálogo íntimo com os recursos existentes em toda a região e a habilidade de um povo movido pela determinação de que a dedicação ao trabalho ajuda a encontrar solução e a ultrapassar todas as dificuldades.
Conhecer, honrar e respeitar as vivências daqueles que ergueram os pilares do “saber fazer vimaranense” impõe-se como uma tarefa capaz de projetar novos rumos alicerçados na matriz secular associada à prática dos diferentes ofícios.
Inaugurado no âmbito das comemorações do 24 de Junho de 2024, o edifício dos antigos fornos de olaria da Cruz de Pedra permitiu criar um pólo de divulgação das artes e ofícios tradicionais, numa exaltação desse "saber fazer” com uma componente museográfica que permite compreender a evolução de alguns dos mais importantes mesteres tradicionais, assumindo destaque a olaria - com a conservação e recriação da antiga oficina ligada à icónica "cantarinha dos namorados" - e outras três áreas intrinsecamente ligadas ao passado laborioso da comunidade vimaranense: os curtumes, as cutelarias e os têxteis.

"Espero que a comunidade goste e use o melhor possível este novo equipamento", contextualizou o arquiteto Filipe Silva, na sua intervenção inaugural, explicando a preocupação em "preservar a memória das pré-existências, que resistiram ao longo dos tempos sofrendo pequenas variações: a casa principal, onde funcionava a oficina no piso zero, e a habitação no piso superior; o telheiro que protegia parte do forno; e o antigo armazém de olaria, que funcionou como oficina".

"O edifício foi reabilitado, mantendo-o como ele era, com recurso a metodologias construtivas tradicionais", salientou, justificando a intervenção "mais contemporânea, na zona onde vão funcionar as oficinas criativas, criando um edifício novo, em que se procura ir buscar a memória do antigo armazém".
No piso térreo, surge uma recriação da oficina de olaria tradicional, podendo ser acompanhadas as diferentes etapas do ciclo de produção, com duas rodas, bem como as réplicas do masseirão e do imponente canastro de verga, utilizado para o transporte da loiça, peça esta em que a cabeça do seu utilizador ficava dentro da estrutura de grandes dimensões.
Susana Milão, responsável do projeto de museografia desenvolvido pela equipa multidisciplinar da Ideias Emergentes, destacou a coordenação científica de Isabel Fernandes, e a colaboração de Joana Sequeira (têxteis), Elisabete Pinto (curtumes) e Manuel Martins (cutelarias), permitindo "em equipa um diálogo com o edifício, no sentido de identificar algo que tivesse relação direta com o espaço oficinal e tivesse a componente museográfica e histórica que permitisse recuar no tempo, de forma a estimular o conhecimento de sectores tão importantes do passado".
"Esses conteúdos estão disponíveis para serem utilizados em projetos de pedagogia, pelo serviço educativo, na dinamização de atividades na área cultural e artística", apontou, ao vincar: "acreditamos que os projetos de museografia devem ser pontos de partida para a realização de atividades e esse foi o propósito que nos orientou".
A arquiteta destacou a "possibilidade da reversibilidade" do conteúdo expositivo, realçando que a reabilitação permitiu "pensar como o edifício irá perdurar no tempo", adaptando-se à dinâmica das comunidades.

O Presidente da Câmara reconheceu a qualidade da intervenção que a partir da reabilitação dos fornos de olaria permitiu recuperar as memórias de outros ofícios, volvidas mais de três décadas desde que o

Município adquiriu aquele conjunto, nos anos oitenta do século passado. "É um dever que temos: conhecer e divulgar a nossa herança histórica. Guimarães duplicou a área classificada pela UNESCO com a distinção da Zona de Couros, em Setembro do ano passado. É uma responsabilidade e um compromisso que temos", sustentou durante a inauguração, fazendo questão de manifestar o seu apreço pela presença na cerimónia de Manuel Meneses, de 95 anos, "o mestre que faz da olaria uma arte e que é um exemplo de longevidade, a demonstração de que esta atividade dá saúde e bem-estar" e que trabalhou naquele lugar.
O Presidente da Junta de Creixomil enalteceu o simbolismo da inauguração, numa zona da freguesia onde o Município está empenhado na reabilitação e refuncionalização de outros espaços. "É importante olhar para este cantinho de Creixomil como uma extensão de Cidade e esta obra é reveladora do que está a ser feito na componente mais urbana da freguesia", observou António Gonçalves, fazendo a ligação com "a continuação da Cidade" que está a ser criada com a obra de construção da Escola-Hotel do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, com a reabilitação da Quinta do Costeado.
A gestão da programação e atividade do Centro de Artes e Ofícios Tradicionais ficou confiada à Cooperativa A Oficina, dispondo o espaço de áreas destinadas a residências artísticas e serviços educativos.
2. Respeitar o trabalho dos nossos antepassados
“Entrar numa oficina rudimentar, ver nela o trabalho de mãos, é sempre um espetáculo que se gosta de observar. A laboração do oleiro rústico - tão singelo e curioso trabalho é o seu – logo prende os nossos cinco sentidos. A própria oficina com os seus anexos – a loja do barro e seus amaçadouros; o pátio do forno e o coberto das lenhas; os andaimes das louças na seca e a guarda dos aprestes; - todo este conjunto aliado à vivenda humilde, constitui sem dúvida um quadro digno das tintas de um pintor emotivo”, descreveu A. L. de Carvalho, no IV volume do seu prodigioso e monumental trabalho de caraterização dos ofícios tradicionais, intitulado Os Mesteres de Guimarães, no capítulo dedicado à olaria.
O autor oferece uma perspetiva realista e contextualiza a atividade com a proximidade de quem teve a oportunidade de interagir com os oleiros e experimentar o universo arcaico do ofício, transmitindo um relato detalhado de cada uma das operações praticadas nas oficinas que calcorreou e que nos idos anos quarenta do século XX ainda funcionavam.
“A mesma luz interior amortecida pela tonalidade ocre do barro; o rubro da chama viva e o cínzeo enovelamento da fumarada saindo e subindo da bocarra do forno; as filas uniformes da louça, em barro cru,

expostas ao sol e ao ar; todo este conjunto nos oferece colorações fortes e tons cromáticos, que não deixam de absorver a nossa atenção, impressionando-nos. Depois disto, determo-nos um instante junto do oleiro sentado à roda – essa roda tão arcaica, tão primitiva, tão singela -, e ver emergir de suas mãos criadoras, de uma porção de barro bruto, qualquer coisa que, no giro da roda e através de múltiplas formas transitórias e linhas curvilíneas, partem do informe para a imagem, é sentir-se dentro de nós o desejo, a tentação de imitar o artista, tomando o seu lugar. Tão simples, tudo tão simples – porque não havemos de ir à croca, às maceiras, ao vergadoiro, pisoar, peneirar, amassar o barro, para de seguida, ajeitando o corpo à banca, tomando um “peloiro”, uma porção de barro betuminoso e fresco, lançá-lo, girar a roda, e modelar com as mãos dúcteis o barro grosseiro, tal como o vemos fazer ao oleiro da loiça popular. Técnica tão simples que chegamos a estranhar como é que nem sequer sabemos levantar do rodalho a peça acabada de modelar pelo oleiro perito; porquanto, se lhe tocarmos, logo a argila fresca estremece, se retrai, e desfaz”.
Ao deparar-se com a oficina arcaica, A. L. de Carvalho não deixou de enaltecer “a beleza da arte do oleiro, os segredos da sua experiência e a ciência dos seus olhos e das suas mãos” para atingir a espessura e dimensões exatas das peças que fabricava: a lucerna que alumia, a malga para o caldo ou o púcaro para a água bebia.
“Dá o barro entrada na oficina, cujo arrumo se acomoda a um canto. Próximo fica o maceirão onde o barro se pisa com um pisão ou mascoto.
Ao seu lado fica a croca – um tronco de carvalho onde se abriu uma cavidade que serve para receber o barro, depois de passado aos crivos. Quer dizer, conforme a obra a que se destine o barro, assim será o crivo, mais ou menos raro.
Depois o barro vai cair na masseira para que nela seja amassado, tal qual como se amassa o pão. Apenas com a diferença de que a água para amassar o barro é fria.
Finalmente, vai o barro para o vergadoiro, que é uma tábua larga e lisa onde o barro se verga e reverga, vira e revira, bate e torna a bater.
Uma distinção: se o barro é destinado para o fabrico de tijolos ou fornos de cozer o pão, em tal caso o barro é amassado com os pés”.
“A indústria de olaria, em Guimarães, é puramente de carácter popular, essencialmente rústica, pois nem sequer atingiu a produção da louça vidrada, pela razão fundamental da falta de barros mimosos”, analisou A. L. de Carvalho, dando conta de que foi no rossio do Toural que se fizeram as feiras e mercados de

loiça, à maneira de estendal, passando também para as Carvalhas de São Francisco, onde estavam em exposição não só as loiças da terra como a loiça vidrada vinda de fora, fazendo ainda referência à falta de barro no concelho, aludindo à fraca qualidade daquele que era proveniente da Ínsua, em São João de Ponte.
Na descrição da visita aos oleiros da Cruz de Pedra, A. L. de Carvalho notou a escassez tecnológica, reduzindo-se a ferramentas rudimentares:
“um traço de cana, um farrapinho, um fio de arame. Para casos especiais, serve-se também o oleiro de um traço de cortiça, um seixo, um pauzinho aguçado”.
Com o traço de cana, feito de estilete ou espátula, repuxa o barro, risca, desenha; com a tira de pano húmido, alisa, regula, contorna; com o fio de arame ou corda de viola, descola as peças de barro poisadas no rodeiro do torno; quanto ao bocado de cortiça, distribui com o auxílio dele a pasta e protege os bojos dos fornos de cozer pão; do seixo faz polidor para brunir certas peças de loiça; e o pauzito aguçado é o furador que abre os orifícios dos vasos e dos assadores de castanhas.
Só uma coisa tem um vocábulo original: é a corda de viola de despegar a peça fabricada, a qual designam de zangarelho.
Referindo-se à mais importante das ferramentas, a roda, documentou: “compõe-se de dois rodalhos ligados por um eixo vertical, tudo aparelhado em boas madeiras da terra. O rodalho maior, erguido do chão, coisa de mão travessa, é onde o oleiro firma um pé, o esquerdo. Este, por impulsos cadenciados, imprime à roda, que o conjunto dos dois “rodalhos” o seu movimento giratório. Na parte superior, fica a “cabeça da roda”, onde o oleiro chimpa o barro betuminoso que as suas mãos de prodígio transformam.
Como banca de assento usa o oleiro uma tábua, especada, em posição oblíqua.
À sua frente fica o tabuleiro, onde tem a ferramenta e mais a água – para molhar o pano e humedecer os dedos, despegandolhe as aderências do barro. Na parte inferior deste tabuleiro está a “estribeira” onde o oleiro finca o pé direito.


E é tudo quanto, em matéria de ferramentas e lobriga na oficina do oleiro, com exceção do forno.
“O forno onde se faz a cozedura de todo o fabrico é construído em pedra de alvenaria, e o seu bojo interior, em abobada, é formado com tijolos. Barro amassado faz a aderência destes materiais, de passo que mantém o seu aquecimento. A altura do forno é dividida em duas partes: a inferior é destinada à fornalha; a superior é reservada à força. A fornalha – onde se afigueia lenha de pinheiro, eucalipto, ramas secas, carumas, codessos, silvas e mato – ouvi chamar-lhe caldeira; à grelha onde assenta a loiça, também a designam por grade.
Tem duas bocas o forno: a da parte traseira, rente ao chão, para receber a lenha; a da frente a toda a altura para entrar o oleiro que acama a loiça.
Colocar a loiça no forno tem saber, de experiência e jeito. Se as peças forem mal apinhadas correm risco de ser coladas ou esbeiçarem. Em tal caso, faz preciso retocar a obra, examinar, “ruminar” a loiça.
Quanto à tempera do fogo, fia mais fino ainda. Se está esquentado, pode escaldar, queimar, gretar, derreter, entortar a obra. Pior ainda: pode fazê-la estourar, como uma castanha em assador.
Se, ao contrário, o calor cai, então não há remédio senão erguê-lo, despertá-lo. Quando não, entra a ressoar, sai mal cosida, podre como barro cru.
O forno de oleiro, depois de cheio, é fechado não por porta, pois apenas se atranquilha, buscando para isso restos de loiças quebradas, telhas, lastros de fornos do pão – o que calha haver à mão de semear”.
Assim, fechado, as línguas de fogo que atravessam a loiça em cozedura, saem pelas fendas da porta atranquilhada; e o mesmo faz o fumo, em rolos densos, subindo no espaço. A demora na cozedura é regulada pela quadra do tempo e mais pelo calor do forno. No verão, seis dias bastam; no inverno, oito dias faz minga.
“P´ra barro mimoso, um lume jeitoso”, ou “vermelho, côr de romã, tira a louça qu’está sã!” foram as frases recolhidas pelo autor, na alusão às expressões feitas pelos oleiros.
No seu trabalho, surge a referência à peça icónica da olaria local. “De toda a loiça fabricada, a cantarinha das prendas constitui “o mimo” dos oleiros vimaranenses, entrando nos catálogos das exposições nacionais e estrangeiras. Esteve em 1882 na exposição de cerâmica do Palácio de Cristal. O critico de arte, Joaquim de Vasconcelos, a quem pertenceu a elaboração do relatório do certame, escreveu: “um cântaro de Guimarães com rosetas aplicadas em relevo e polvilhadas de mica branca, brilhante, atrai a atenção de todos os visitantes. Foi exposta pelo Sr. António Alves da Costa Guimarães e mereceu um dos três diplomas de mérito da secção de louça popular”.
No mesmo relatório, continuou, “faz-se menção de que esta cantarinha já tinha concorrido a uma

exposição em Viena de Áustria, sendo ali igualmente distinguida”.
“Tal como o cântaro, também a cantarinha das prendas é feita por etapas. O encolar do pescoço é feito quando já o seu bojo beneficiou de uma meia seca. De igual modo as asas só são coladas quando a cantarinha suporta o seu peso. Primeiro a asa pequena, depois a maior.
Toda a cantarinha é engalhada, enfeitada, para fazer o gosto aos olhos. Destina-se à água. Nela, a água é mais fresca, bebe-se por ela com mais satisfação.

Quando é oferecida às raparigas, a cantarinha de barro, toda enfeitada de areias luzentes e mica prateada, ela fala de amor”.
No já mencionado capítulo dedicado à olaria, A. L. de Carvalho reproduz a conversa “com o mais velho dos mestres Oleiros da Cruz da Pedra – o Machado, que conta para cima de 90 anos”.
“Dizia ele, desvanecidamente, para provar-me que a olaria era uma indústria de andar pelos da casa. ‘Meu avô e meu pai, (Deus os tenha no céu!) foram oleiros; eu e outro meu irmão, oleiros fomos; no mesmo modo de vida ficaram alguns dos meus filhos e netos. Pois, digo-lhe, senhor: leva-se uma vida a aprender, trabalha-se toda a vida, e sai-se da arte sem se ter aprendido tudo”.
“Escuto-o atentamente sobre o que foi a indústria no seu tempo. E ele, saudoso, rebuscando na memória, começa a nomear, um por um, 17 mestres com oficina no lugar da Cruz de Pedra; - “Bibi”; “Barrela”; Pedro “Bulha”; “Pesquício” – pai; “Pesquício” – filho; “Rainha”; “Zé da Narda”; Peixoto; António Alves; “Zé” Alves; “Laró”; “Arreganha”; “Grenha”; “Quim” Faria; “Cavacos”; “Macarrão”; e Machado “Réu”.
A olaria popular de Guimarães, deficitária em matéria prima, sujeita ao barro de Prado, não progrediu, mantendo as suas características tradicionais”.
Os fornos das últimas oficinas tradicionais apagaram-se no início da década de 80 do século XX, mantendo-se viva a produção e a memória por mérito de Joaquim Oliveira durante muitos anos um empenhado

divulgador do ofício e seu incansável embaixador.
Espera-se que a criação do Centro de Artes e Ofícios Tradicionais volte a crepitar, honrando o espírito das gerações daqueles que através do trabalho transformaram a Cruz de Pedra num lugar peculiar, distintivo, ancorado no património material e imaterial que o futuro continuará seguramente a projetar.

Novo Polo do Cindor, centro de formação de ourivesaria e relojoaria avança em Guimarães Centro de Formação Cindor
Uma nova aposta na formação profissional, complementada com a reabilitação urbana, vai avançar no espaço do Convento de Santa Rosa de Lima, implantado na zona conhecida pelas Domínicas, numa área classificada como Património Mundial da UNESCO, num edifício da Câmara Municipal, inserido no denominado Bairro C.

Na circunstância, uma iniciativa que visa instalar no citado imóvel um polo do Centro de Formação Profissional de Ourivesaria e Relojoaria (CINDOR), dando azo a uma formação especializada que pretende criar 193 postos de formação e simultaneamente promover a reabilitação do espaço, sito à Rua Dr. Bento Cardoso, a escassos metros do centro nevrálgico da cidade, inserida numa área envolvente de boas acessibilidades e bastante frequentada.
Com efeito, contíguo ao local da Feira Semanal e Mercado Municipal e na vizinhança de outros espaços educativos e formativos como a futura Escola de Engenharia Aeroespacial na antiga fábrica do Arquinho e a Escola Hotel, na Casa do Costeado, o polo acaba por se integrar plenamente num triângulo urbano que irá ganhar visibilidade.
De facto, aprovado na reunião camarária de 1 de julho último e posteriormente assumido e subscrito pelas entidades envolvidas por um contrato de comodato, o polo de Guimarães da CINDOR avançará no terreno numa intervenção faseada, que se crê prolongar-se-á

até 2026. Deste modo, envolvendo valores e custos de reabilitação que serão repartidos entre os subscritores do contrato, a nova unidade formativa prevê avançar numa intervenção faseada, que, numa 1.ª fase, abrangerá a instalação de salas práticas e teóricas de foro formativo e espaços de apoio para bar, refeições e armazéns. Posteriormente, numa 2.ª fase, a intervenção centrar-se-á na reabilitação do edifício e arranjo exteriores, bem como na dotação de áreas complementares como uma sala de reuniões e um auditório. No fundo, mais uma iniciativa que concilia eficazmente as necessidades formativas e educacionais com a reabilitação monumental e da malha urbana da cidade e que vem de encontro à tradição e prestígio vimaranense nesta área profissional, uma vez que, aqui, funcionou uma contrastaria e foi, segundo estudiosos da matéria, o berço dos ourives portugueses.


Figuras e curiosidades vimaranenses
Nesta rubrica habitual, recordamos nomes de vimaranenses ilustres cujo legado nos orgulha.
Deste modo, evocamos os 150 anos do nascimento de José Luís de Pina e os 140 anos de nascimento de dois ilustres vimaranenses nascidos no ano de ouro de 1884, como Mariano Felgueiras e Eduardo de Almeida.
Outrossim, o centenário de nascimento do pintor Isabelino Coelho, os 200 anos da morte da poetisa Catarina de Lencastre e o centenário do falecimento do musicólogo
Bernardo Valentim Moreira de Sá, entre outros, que recentemente partiram e deixaram marcas, como Maria Adelaide Moraes.
Figuras a que aditamos algumas curiosidades e estados de alma sobre as vivências da cidade dos que por cá passaram, bem como de gente do burgo, ou que cá labuta, a quem Guimarães e as nossas instituições reconhecem mérito nas mais diversas atividades
José Luís de Pina
Carlos Manuel Leite Ribeiro de Sousa


Afinal quem foi José Luís de Pina?
Quem é José Luís de Pina?
Quem pode ter sido José Luís de Pina?


De momento, só será respondido à primeira questão. Quanto às restantes, ficarão para a parte final deste evento, depois de ter explanado o primeiro tema.
Luís de Pina, nasceu a 29/01/1874, na freguesia de São Paio, na Rua Paio Galvão, no prédio em frente à Sociedade Martins Sarmento, onde seu pai possuía uma oficina de serralharia. Era filho de Luís de Pina e de Eugénia Maria, tendo falecido a 29 de Dezembro de 1960. Frequentou o Colégio de São Dâmaso, onde foi condiscípulo de Alfredo Pimenta, depois o Liceu Martins Sarmento e a Escola Industrial Francisco de Holanda. Frequentou, no Porto, a Academia Politécnica, mais tarde Universidade do Porto. José Luís de Pina esteve sempre presente nas necessidades da sua terra, mostrando-se disponível para tudo. Foi o autor, em 1900, de um dos carros que compuseram o cortejo em homenagem a Martins Sarmento, por altura do centenário do seu nascimento, cortejo este que percorreu as ruas desta cidade. Durante muitos anos pertenceu à direcção da Sociedade Martins Sarmento, dirigindo o Museu Arqueológico e as estações da Citânia de Briteiros e de Sabroso, tendo igualmente estudado o castro da Penha. Foi vereador da Câmara Municipal de Guimarães tendo sempre

lutado pela restauração do vetusto castelo. Lutou, igualmente, pela reedificação do Paço dos Duques de Bragança, sendo nomeado Presidente da Comissão de Turismo, em virtude de ser um grande defensor da expansão da sua terra. Integrou as direcções da Santa Casa da Misericórdia e do Hospital de S. Domingos. Foi um grande entusiasta da Festa dos Caixeiros, das Festas Gualterianas. Foi agraciado pela Câmara Municipal de Guimarães, em 1948, com a medalha de ouro da cidade, sendo homenageado por esta Instituição em 28/11/1954, mandando a Câmara Municipal executar um busto em bronze, ao escultor António de Azevedo, inaugurado no ano de 1963, que se encontra colocado num dos lugares de relevo daquela estância turística.
Foi Juiz da Irmandade de S. Nicolau desde o ano de 1934 até ao seu falecimento, em 29/12/1960.
Tudo isto já bastava para definir José Luís de Pina. Mas vamos dar mais umas “pinceladas” na sua imagem, pois este vulto vimaranense merce o reconhecimento e conhecimento das gentes de Guimarães pelo seu envolvimento na nossa terra, em tantas iniciativas que ficaram a desafiar os tempos. Deste modo assinalamos, a seguir, o seu contributo em algumas delas:
MARCHA GUALTERIANA - Foi um grande impulsionador deste evento da nossa cidade, assumindo tudo o que era preciso fazer para a sua execução, respeitando o “grande ideólogo”, seu grande amigo e Juiz da nossa Irmandade, Padre Gaspar Roriz.
Deve-se-lhe a criação dos “bonecos articulados”, o desenho dos cartazes anunciadores do evento, bem como a maquete de vários carros. Em 1911 integrou e foi responsável pelo “Grupo de guerreiros, vestidos em estilo do século XII”, que fez parte do Cortejo Cívico que integrou as Gualterianas desse ano para celebrar o 8.º Centenário do nascimento de D. Afonso Henriques. Para infelicidade nossa, não existem projectos, desenhos ou maquetes dos seus trabalhos, o que dificulta uma pesquisa mais atenta, para se poder dar a conhecer a sua acção. Por exemplo, cartazes anunciadores, que a sua arte produzia e que desenhou, Cartaz das


existem vários, tendo elaborado todos desde o ano de 1906, mas faltam os dos anos de 1917 a 1922.
PENHA – Foi um dos lugares da sua eleição! Desde pequeno que amava aquele pedaço de terra, levado pela mão de seu pai.
Foi um dos locais onde ele produziu um dos maiores trabalhos, na escavação arqueológica do Castro, enquanto director do Museu e dos trabalhos de arqueologia da Sociedade Martins Sarmento, na Citânia de Briteiros e Castro de Sabroso.
Eis que em 1922 há, no nosso País, um facto notável, que é a travessia do Atlântico Sul, levado a efeito pelos grandes aviadores Gago Coutinho e Sacadura Cabral.
Nesse ano, houve uma reunião na Câmara, da qual só em 7 de Junho de 1927 foi dado notícia no Comércio de Guimarães, pelo Presidente do Município, A L de Carvalho, na qual se verifica que foi elaborada uma proposta pelo Reitor do Liceu de Guimarães – David de Oliveira (que era professor de História), indicando que o seu colega e AMIGO Professor José de Pina fosse encarregado da elaboração do projecto do monumento aos aviadores e respectiva maquete (que infelizmente desapareceu), obra que teria de ser feita a cinzel.
A elaboração custou muito, pois, como sempre, nesta terra, pensa-se fazer numa data, mas depois tudo é posto em causa.
Deitou mãos à obra, mas o dinheiro era pouco e a Irmandade não tinha disponibilidade financeira, tão pouco estava interessada neste projecto, deixando para a Comissão de Turismo essa execução. Verifica-se este facto no Jornal Comércio de Guimarães de 8/11/1927.

O Homem quis, a obra foi feita, obedecendo à inspiração do ilustre vimaranense Sr. José Luís de Pina, é

único do seu género no país e talvez em todo o mundo, sendo inaugurado no dia 12 de Junho de 1927, último dia do Congresso Eucarístico de Guimarães, sendo a Penha sobrevoada nesse dia por um avião a lembrar o feito.
É de lamentar que Sacadura Cabral tenha falecido antes deste evento numa viagem, tendo ficado sepultado no mar.
Guimarães engalanou-se para o acto de inauguração, pois iria receber muitos turistas.
Mas este trabalho não teve, nem tem a divulgação necessária, pois há várias teses de mestrado, bem como alguns livros alusivos à Travessia do Atlântico Sul, e não há uma única referência ao Monumento existente na Penha.
Foi ele o grande impulsionador e que teve uma grande luta para que a Penha tivesse os transportes necessários para a população se poder deslocar para aquele sítio, nesse dia.
Foi também ele o ideólogo e o autor do desenho e execução da obra da adega do Ermitão, segundo notícia inserida no C G de 18/6/1944.
Teve várias manifestações de carinho das quais só vou citar a realização de um Torneio de Chincalhão, em 18/7/1948, estando em disputa uma taça com o seu nome.
Mas nem todos estavam com ele e não se sabe bem porquê foi demitido da Comissão de Turismo, em 22/05/1929, conforme se vê nas actas camarárias, que mostram um certo laconismo nesta acção, não sendo indicado o seu nome, mas sim do seu substituto. Verifica-se no C.G. de 04/06/1929, não por incompetência, mas por não reunir as condições necessárias para exercer funções, mas quem tinha efectivamente competências para as exercer?
A seguir vamos transcrever tal noticia, que é do seguinte teor:
“José Luiz de Pina. No laconismo próprio de notícias que se não podem desenvolver, por falta de espaço, dissemos há dias:
Na última sessão camarária a Camara Municipal demitiu o Sr. José Luís de Pina, de membro da Comissão de Turismo, nomeando para o substituir o camarista Sr. Dr. José dos Santos.
Sem desprimor para este cavalheiro, para quem vão os nossos respeitosos cumprimentos, diremos que a resolução Camarária desagradou. Quem é José de Pina? Que o responda o bom nome de Guimarães e o esplendor que o seu génio artístico soube dar às inexcedíveis festas Gualterianas. Que o diga a Penha, essa glória vimaranense, que tem esculpida, em cada uma das suas pedras, o seu génio, a sua técnica, o seu talento, o seu saber e o seu amor por aquele Monte.

Que o diga o monumento aos aviadores que, no género, é o primeiro no país e que o lápis hábil de José de Pina mandou gravar no granito duro duma rocha. Que lhe tem dado a cidade? Desgostos, dissabores e contrariedades. O Sr. José de Pina, afável com a mocidade, a quem ampara, protege e guia nos seus empreendimentos, tem sido o braço direito da nossa Terra. Por que o eliminaram pois duma Comissão, de que fazia parte, estamos certos, a seu contento? Era ilegal a sua estada ali? Sim era-o de facto. Mas a sua competência e o seu passado não justificariam essa ilegalidade?
Dizem-nos que o atingido, sensivelmente magoado com o procedimento havido para com a sua pessoa, pensa pedir a demissão de todos os cargos de que, graciosamente, e com prejuízo da saúde, faz parte. Lamentamo-lo”.
São situações para serem pensadas.
Quando foi inaugurada a estátua em sua homenagem, na Montanha da Penha, Carlos Saraiva, na altura Presidente da Junta de Turismo, salientou:
“Terá, para além de tudo, a veneração de todos os vimaranenses. É neste ambiente de beleza, de religiosidade e poesia que ficará quem, lá em baixo se sacrificou a trabalhar pela Cidade e aqui, em cima, se devotou a acariciar a dureza dum monte para que ele fosse o seu prolongamento real e assim retractasse a verdadeira alma vimaranense – fascinadora, agradável e atraente. Aqui fica como sentinela vigilante do nosso comportamento bairrista. José de Pina foi a total e mais bela concretização desse comportamento. É a lição que se colhe da sua vida. Fui seu aluno no velho Liceu dos Cónegos; fui seu aluno na escola de devoção bairrista, que até hoje ninguém exerceu com tanto aprumo; fui seu aluno no cimo desta montanha santa onde se aprende a maior das lições – a grande Lição das alturas e que se resume na pequenez de tudo e de todos em face do mistério sublime e grandioso da Criação”.
LICEU – Foi aqui, no velho Convento de Santa Clara, que ele foi estudante, professor, Vice-Reitor e Reitor. Em 1892 frequentou simultaneamente o Seminário Liceu de Guimarães, frequentando igualmente a Escola Francisco de Holanda. Em 1896, foi nomeado professor interino da disciplina de desenho do Liceu. Dou a conhecer historicamente que foi professor de Manuel Gonçalves Cerejeira, porquanto se matriculou no Seminário Liceu de Guimarães, em 1899, saindo daqui para o Liceu Alexandre Herculano, em 1904. Em 1902 passou a professor efectivo; De 1910 a 1929 foi Vice-Reitor e Reitor do nosso Liceu. Jubilou-se a seu pedido em 1942, sendo-lhe prestada grandiosa homenagem pelos seus antigos alunos. Sempre defendeu os estudantes. A maior parte das manifestações promovidas para o glorificar foram feitas pelos seus antigos alunos, prova do amor e carinho que tinham a este Homem. O Liceu Nacional de Guimarães possui um busto de José

de Pina, oferta do autor do projecto – Escultor António de Azevedo, seu amigo e colega de profissão.
BOMBEIROS - Integrou a Associação dos Bombeiros Voluntários de Guimarães, no ano de 1891, sendo, em 1910, seu 2.º Comandante, em 1933 – 1.º Comandante, e, a partir de 1941, comandante perpétuo. Em 1948, tornou-se comandante honorário e inspector, cargos que exerceu até 1960.
Em vida, recebeu as seguintes condecorações: Cavaleiro das Ordem da Benemerência, medalha de bons e efectivos serviços, Medalha de Socorro a Náufragos, medalha de ouro de 50 anos de relevantes serviços, Medalha de Ouro da Liga dos Bombeiros Portugueses.
Em 1948, idealizou e concretizou a colocação dum depósito de água em cima duma viatura, dando origem aos actuais autotanques. Só podia ser ele o autor. (C.G. 4/9/1948)
SINDICATO DOS CAIXEIROS - Sempre adorou esta classe que existia na nossa cidade, pois eram eles, sob a sua orientação, que executavam, quer os carros da Marcha Luminosa ou Gualterianas, quer os bonecos articulados, todos tirados da sua cabeça.
Numa das revistas organizadas por este Sindicato, pelo menos uma vez aquando da realização das suas festas, vem inserido o que foi publicado aquando da Marcha Milanesa realizada no ano de 1907. Diz o seguinte:
“Esta Marcha, que é uma homenagem dos empregados do comércio desta cidade à digna e benemérita Direcção da Associação Comercial de Guimarães, e uma saudação da nossa mocidade às gentis e formosas damas vimaranenses – que à Festa da Cidade juntam a Festa das Flores – esta Marcha, repetimos, deve ser um dos mais originais e mais belos números do programa das famosas festas Gualterianas que a briosa cidade de Guimarães realiza, neste ano de 1907. Basta saber-se que os diversos e formosíssimos grupos que figuram na Marcha Milanesa são devidos ao lápis do talentoso artista e distinto professor Sr. José de Pina, para podermos afirmar que a Marcha será um cortejo deslumbrante de luz e um conjunto revelador dum fino gosto artístico”.
Foi ele e o seu amigo Padre Gaspar Roriz os grandes obreiros que elaboraram umas festas próprias para os Caixeiros, iguais às Festas Nicolinas, com peças de teatro e outros eventos.
Eis mais um momento grandioso deste grande génio.
Conforme se verifica nas notícias inseridas no Comércio de Guimarães, de 22/5/1914, vai ser inaugurada uma nova bandeira para a classe dos Caixeiros, que é uma perfeição artística, que honra o seu desenhador,

o hábil professor Sr. José de Pina e, como de costume, um hino à mesma, cujo autor foi Alfredo Peixoto, de Braga, sendo a bandeira confeccionada por D. Maria do Nascimento.
A mesma esteve exposta na Casa comercial de José Gonçalves (futura Casa das Gravatas) e a descrição da mesma é a seguinte: “A bandeira que é de seda verde, tem no centro estampados os emblemas do comércio, destacando-se sobretudo as formosas letras bordadas a ouro, alto relevo, com as iniciais A.C.E.C.G”.
FESTAS NICOLINAS - Tendo havido em 1881 uma tentativa de ressurgimento das Festas Nicolinas, que não resultou, estas continuaram num marasmo nos anos seguintes. Mas eis que, em 1895, apareceu uma plêiade de jovens da qual faziam parte o nosso José Luís de Pina, ocupando o cargo de Tesoureiro, com tanto entusiasmo e devoção por S. Nicolau, que ainda hoje se vê o grande feito que aquela rapaziada fez, in illo tempore.
Nos anos de 1920 e 1945 fez parte das Comissões que celebraram as bodas de ouro e prata do ressurgimento das Festas Nicolinas. Dado o seu protagonismo em tudo que era Guimarães, penso que a Bandeira da Academia, que se encontra guardada na A. A. E. L. G. é da sua autoria.
Olhando para a data da sua execução – 1927 – e ter sido pintada por Rita Moura Machado, filha dum seu grande amigo, Dr. Moura Machado, e antiga aluna de José Luís de Pina, presume-se que a referida bandeiras seja da sua autoria.
A A.A.E.L.G. possui um busto de José Luís de Pina, igual ao que se encontra na Penha, logicamente mais pequeno, e que foi oferta da viúva do seu autor – António de Azevedo.
Aquando da sua reforma, foram os estudantes que realizaram uma grande manifestação de apreço e reconhecimento por aquilo que sempre foi – correto. Honesto, ajudava os mais necessitados, numa só palavra – HOMEM.
Em conclusão, vamos transcrever algumas frases que foram escritas na Imprensa de então sobre este nosso homenageado:
IRMANDADE DE S TORCATO – São da sua autoria alguns cartazes anunciadores da Romaria de S. Torcato, ao tempo considerada a maior Romaria do Minho.
NOTICIAS DE GUIMARÃES – 08 de Janeiro de 1961.
De acordo com o Notícias de Guimarães, publicado na data acima referida,

“Só uma coisa dele nos resta: a sua lembrança que foi um Conterrâneo apaixonadamente devotado de amor à nossa Terra! Por este nosso torrão soube lutar firme, prestes, abnegado. Criaturas como José de Pina não são vulgares. No entrechoque dos egoísmos das vaidades, das invejas mundanais, ele conseguiu passar incólume. Toda a sua preocupação bairrista era servir. Servir a terra vimaranense, o seu berço natal. Este carinho acrisolado era uma herança paterna. O seu pai ofereceu-lhe o seu exemplo”.
Em aditamento, um outro sector da sua vidam escolástica, como Professor, é ainda referenciada, no citado periódico nos seguintes termos:

“Distinguido entre os alunos, a quem ensinava, sabia distinguir o bom do mau, condoía-se daqueles que não se dedicavam ao estudo, nem por isso deixava de ter para com estes uma atitude complacente, e como não bastava, dedicava a todas as manifestações académicas, especialmente às Festas Nicolinas, uma colaboração, eu era nele, relembrança dos seus tempos de estudante. Por esse e outros motivos florescia a amizade de todos.
O seu funeral foi um enorme movimento de amizade para com aquele que em vida soube dar a todos a amizade, competência, trabalho e sobretudo dar todas as respostas em prol da sua Terra, não cobrando nada pelo engrandecimento dela”.
– 6 de Janeiro de 1961.
Acrescenta ainda o jornal acima mencionado, aquando do seu falecimento:

“(…) pode dizer-se que faleceu sem inimigos, o que naquela data era difícil tal acontecer. Referia mais ou menos o que o outro Jornal dizia, dando a notícia de que a edilidade iria dar o seu nome a uma artéria desta cidade”.
Finalizando, e como dissemos no início, para nós quem é, e quem será José Luís de Pina?
Da nossa parte, IRMANDADE DE S. NICOLAU, só podemos agradecer e reconhecer a sua insigne postura e ação no desempenho do cargo e que foi o grande Juiz que tivemos, pois, enquanto novo soube ver, entre outros como Jerónimo Sampaio, Braulio Caldas, Padre Gaspar Roriz, Jerónimo de Almeida o grande momento do ressurgimento das Nicolinas, que ainda hoje são a grande Festa da nossa cidade, e será a estrela que nos há de guiar pelo tempo fora. Obrigado por tudo.


Eduardo Manuel de Almeida Júnior:
“Vida e morte de um homem bom de Guimarães” Francisco Brito27
Eduardo de Almeida nasceu em Guimarães a 3 de fevereiro de 1884, no seio de uma família da burguesia vimaranense. O seu pai, Eduardo Manuel de Almeida, foi um importante homem de negócios, comerciante e industrial que teve alguma preponderância na vida política local, tendo sido Vereador da Câmara Municipal e militante do Partido Regenerador. O ano do seu nascimento foi um ano determinante para Guimarães. Em 1884, concretizam-se muitos dos projectos que há décadas a cidade reivindicava. Nesse ano, o comboio chegou a Guimarães, a Sociedade Martins Sarmento promoveu a Exposição Industrial de Guimarães e publicou a “Revista de Guimarães”, foi inaugurada a Escola Industrial Francisco de Holanda, foi lançado o periódico “O Comércio de Guimarães” e vários empreendimentos há muito sonhados e desejados começam a ganhar forma. Foi nessa cidade em transformação que Eduardo de Almeida nasceu e cresceu. Mas a cidade de 1884, que tanto encantou os homens que contribuíram para as notáveis transformações que então ocorreram, era já uma cidade em decadência aos olhos da geração de Eduardo de Almeida. Em Coimbra, para onde foi estudar Direito, Eduardo de Almeida publicou em 1902/1903, juntamente com Alfredo Pimenta, o periódico “O Burgo Podre”, uma folha onde, em tom desencantado, se denunciavam as misérias morais e materiais da cidade de Guimarães. Nessa efémera publicação (da qual só se conhecem dois números) é feita uma violenta crítica à sociedade vimaranense, “a mais detestável, a mais hipócrita, a mais ignorante das sociedades de província”. Também o estado da vida económica do concelho é duramente criticado nesse folheto, sendo dada particular atenção ao “Clube Comercial” que, segundo os autores, se havia transformado numa espécie de clube social quando deveria preocupar-se em promover o ensino da classe comercial e industrial. Uma classe que, de acordo com Eduardo de Almeida, necessitaria, no futuro, de uma “educação especial, uma inteligência tecnizada” que fizesse face às descobertas científicas da época e a um mundo que começava a derrubar barreiras e nacionalidades. Dizia também que “Guimarães, sendo uma das terras de
27 Investigador em História Moderna e Contemporânea


Eduardo Manuel de Almeida Júnior. Década 50. Arquivo Sociedade Martins Sarmento.
mais florescente desenvolvimento comercial, não tem curso algum especial de ensino, não pensou nunca em institui-lo, porque sendo a terra mais portuguesa de Portugal, apenas se lembra de foliar doidamente, ridiculamente, em festas de efeito”. Corria o ano de 1902 e as conquistas de 1884 faziam já parte do passado para uma geração que já cresceu com o comboio e que estava familiarizada com a luz elétrica e com os grandes avanços científicos e tecnológicos do seu tempo.
N’ “O Burgo Podre” são denunciadas as injustiças sociais de Guimarães, espelhadas na miséria das “criancinhas cheias de pulgas” e numa indústria exploradora que era “um sorvedoiro de miseráveis, uma fábrica de alcoolismo e prostituição”.
Ainda em Coimbra, Eduardo de Almeida colabora no contestatário periódico “Era Nova” e escreve “A Lama”, o seu primeiro livro. Seguramente foi por esta altura que as suas convicções republicanas começaram a consolidar-se. Regressa a Guimarães em 1905/1906 onde se estabelece como advogado. Pouco tempo depois passaria a exercer advocacia no Porto. Em 1910, com o advento da República, regressa a Guimarães onde é nomeado Administrador do Concelho pelo novo regime. Neste período, o seu espírito conciliador (fruto de relações familiares e de amizades com pessoas de vários quadrantes políticos) terá evitado que os confrontos entre republicanos e monárquicos se agudizassem. Em 1911, com 27 anos de idade, é eleito Deputado nas Constituintes. Mais tarde, em 1914, é nomeado Chefe de Gabinete do Ministro das Finanças (Manuel Monteiro). Em 1915, um pouco desgostoso com o rumo da República e com acrescidas responsabilidades familiares, volta a Guimarães onde assume os negócios do seu pai (que havia morrido) e onde volta a exercer advocacia. Como advogado presta auxílio gratuitamente aos mais desfavorecidos. Homem abastado, nunca se furtou a auxiliar quem a ele recorria. Ao longo da década de 20 preside a várias direcções da Sociedade Martins Sarmento (onde lidera uma importante renovação) e à Associação Comercial e Industrial. Continua activo na política local, sendo redactor do jornal “O Republicano” (1916) e “O Povo de

Guimarães” (1931). Firme nas suas opiniões e nas suas convicções políticas, Eduardo de Almeida atravessa o período que vai desde o início da República até à instauração da Ditadura Militar como um homem que não só era capaz de criar rupturas sempre que entendia necessário, mas que também sabia criar pontes e promover entendimentos com os seus adversários políticos. Um bom exemplo do seu espírito singular e tolerante encontra-se no facto de, apesar de na sua juventude ter combatido a “ditadura” de João Franco, não hesitar dizer uns anos depois que “em Guimarães somos todos franquistas”, reconhecendo assim os méritos de Franco que, enquanto deputado eleito por Guimarães num período particularmente delicado, serviu com dedicação a terra que o elegeu. As linhas que escreve por ocasião da morte do militante e resistente monárquico Dr. Joaquim de Meira são um bom exemplo da capacidade de Eduardo de Almeida em reconhecer e valorizar as qualidades dos seus adversários políticos.
Ao longo da sua vida dedica-se à actividade literária, dando à estampa obras como “Almas do Purgatório (novelas)”, “O Marido (episódio dramático)”, “Vida de Sombras”, ou “Alguns episódios e letrados do antigo foro vimaranense”. É nas páginas de uma destas obras, “Almas do Purgatório”, que, em registo ficcional (mas em certas passagens quase autobiográfico), podemos encontrar um pouco da forma de ver o mundo de Eduardo de Almeida. Numa personagem de um dos contos exprime alguns pensamentos que bem podiam ser seus:
“Assim vivi anos, ao acaso de impressões do momento, chafurdando nos vícios das terras de província que vão às folhas do calendário buscar os motivos da sua repetição enjoativa e imbecilizante (…). Fui na corrente, anónimo, como o lixo na enxurrada. A mocidade do meu tempo acampou num deserto à espera dum ideal, caminheiro sem rumo. A geração do passado tinha ainda as mãos tintas da destruição dos fétiches do poder sobre as almas, do comando dos homens; aqueciam-nas como álcool as façanhas do combate, cuja vitória não chegara a assistir porque era esta nossa – depois do desmoronamento das catedrais onde pompeava o culto do Ideal Antigo, entre a poeira do tremor de terra, a desolação calcinada dos espíritos! Para onde vamos nós? e como dentro do peito o coração oscilava indeciso, os homens foram hesitantes, cobrindo os postiços das conveniências, condescendendo em assoprar o fogo morto, outros erguiam impávidos, contra a fúria dos tradicionalistas, uma técnica pavorosa e vazia: deveres, reformas sociais, humanitarismo. Porque tudo aquilo – ciência, filosofia, humanitarismo – fazendo progressos constantes, interrogava-se afinal com desânimo (…). Fui um autómato e mais nada: joguete dos nervos e das tentações (…). Por onde para o sofrimento de tantos que atravessaram o mundo, os conflitos, as ideias, os tormentos das gerações? O pó da estrada é um ossuário desfeito”.
As linhas desta novela, escritas na sua Quinta da Freiria (em Ponte) e Guimarães entre 1917 e 1919,

parecem antecipar o fim da sua vida ou, pelo menos, são um testemunho da sua desilusão com o mundo.
Meses antes de morrer escreveu a Carlos Saraiva algumas palavras que poderiam ter saído de “Almas do Purgatório”: “em tantas horas de angustioso desalento em que se vai fenecendo a minha vida inteiramente perdida”.
Contudo, a vida que Eduardo de Almeida considerou perdida foi uma inspiração para muitos vimaranenses do seu tempo e para as gerações vindouras. Político tolerante, mas de convicções firmes, orador notável, jornalista, advogado, empresário, escritor e humanista, Eduardo de Almeida mereceu a admiração de políticos como Brito Camacho, Nuno Simões, Afonso Costa ou Duarte do Amaral, de escritores como Gilberto Freire ou Delfim de Guimarães e de várias gerações de vimaranenses que souberam apreciar e valorizar o seu legado.
Sendo “Um dos últimos românticos da República” (nas palavras de Aníbal Mendonça), Eduardo de Almeida terá vivido os últimos anos da sua vida envolto numa melancolia própria de quem viu desvanecer os ideais da sua juventude. A sombra da ditadura do “Estado Novo” terá sido particularmente pesada para um idealista como Eduardo de Almeida. Não é irrealista imaginar que, na década de 40, ao presenciar a “Marcha da Fome” de Guimarães (uma grande manifestação silenciosa de operários famintos), possa ter recordado as linhas que na sua juventude escreveu n’ “O Burgo Podre”. A desilusão com a vida e com a política terá sido agravada por uma personalidade “complexa e delicada”, “demasiado complexa até, para a pequenez do meio” vimaranense, como refere Carlos Saraiva no seu obituário.
Uma vida de dedicação ao progresso, à justiça social e a servir o próximo fizeram de Eduardo Manuel de Almeida Júnior aquilo a que comummente se designa por um homem bom. Quando morreu, a 6 de janeiro de 1958, o periódico Notícias de Guimarães fez-lhe justiça e no número em que era dada notícia da sua morte podia ler-se na manchete: “Vida e morte de um homem bom de Guimarães”.

Catarina de Lencastre
Equipa redatorial
CATARINA Micaela de Sousa e LENCASTRE foi uma poetisa vimaranense nascida em 29 de setembro de 1749, filha da prestigiada família da Casa de Via Pouca, que por raízes familiares ascendeu a uma educação esmerada e literária. Falecida em 4 de janeiro de 1824, há 200 anos, aqui a divulgamos e evocamos.
Com efeito, proveniente de família de tradições literárias, como foi seu pai, Francisco da Silva Alcanforado, que pertencia à Academia Vimaranense, bem como o seu tio Sebastião Correia de Sá, Catarina era ainda sobrinhaneta da escritora Soror Maria do Céu, cuja vocação para as letras lhe seria incentivada, levando-a, ainda solteira, a iniciarse em vários saraus poéticos, que conduziriam João José Pinto de Vasconcelos a crismá-la de “preclara, sábia Célia, a quem Minerva/prepara desde o berço/por teus sublimes dotes”.
Mas, de facto, a poesia acompanhoua ao longo da vida.

In, Jornal de Guimarães, 12 de outubro de 2022
Outro aspeto curioso da sua vida tem a ver com o seu casamento por procuração, em 1767, com Luís Pinto de Sousa Coutinho (1735-1804), mais tarde o 1.º Visconde de Balsemão e governador de Mato Grosso, no Brasil, entre 1769 e 1772. Realmente, segundo se crê, o seu marido terá sido responsável para que o município local de Santana de Chapada passasse a denominar-se Chapada dos Guimarães.
Efetivamente, ao que consta e rezam as crónicas, o governador português e seu marido terá aceitado a

sugestão dos portugueses naturais de Guimarães de alterar o topónimo local e a denominá-lo Chapada dos Guimarães, cidade que surgiria a partir do aldeamento dos índios Chiquitos, que fora administrada pelo padre jesuíta Estevão de Castro, posteriormente expulso pelo Marquês de Pombal. Porém, outras fontes garantem que o nome Guimarães se deveria a uma homenagem ao conde de Guimarães, por imposição do próprio visconde de Balsemão.
Ora, quer tenha sido por uma ou outra razão, o que é certo é que este mesmo município mantém-se, na área do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, famoso pelas suas cachoeiras, cavernas e lagoas.
No entanto, segundo os biógrafos, Catarina não acompanhou o seu marido no decurso da sua estada no Brasil. Porém, acompanhá-lo-ia em Inglaterra, após 1774, quando este assumiu o cargo de ministro plenipotenciário na corte londrina. Consta até que Catarina se teria recolhido em casa, cerca de um ano, a estudar a cultura e língua inglesa, entre outras, e que só após esta aprendizagem abriria as portas a políticos e intelectuais das suas relações.
No entanto, mais importante neste conhecimento recente desta figura feminina, recentemente estudada pela professora da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Maria Luísa Malato Borralho, que proferiria a conferência na SMS, intitulada “À descoberta de uma Poetisa do século XVIII”, é de facto e acima de tudo a sua dimensão lírica, certamente desconhecida entre muitos vimaranenses.
Com efeito, a poesia de Catarina de Lencastre, apesar de passar despercebida na História Literária, deixaria marcas no seu tempo, em especial após o seu regresso a Portugal em 1788. De facto, nessa altura, Catarina passa a frequentar salões literários com outros poetas como Bocage, Nicolau Tolentino e Curvo Semedo, entre outros e passa a relacionar-se com escritores como a Marquesa de Alorna, que acarretariam a sua distinção como a “Safo Portuguesa”, poetisa grega da ilha de Lesbos, pela relevância que esta poetisa assume na sua obra. Poesia que explora temáticas diversas como a Razão, o Amor, a Natureza, a Felicidade, o Pessimismo e o Caos. É uma produção lírica que a pesquisadora Luísa Borralho pensa levar “Catarina Lencastre a revelar-se uma autora exemplar nessa percepção de continuidade e de ruptura na história literária”, questionando assim a classificação que lhe foi atribuída de “pré-romântica”.
Entrementes e após o falecimento do marido (1804), que em vida exerceria várias missões e cargos políticos e chegaria a Ministro do Reino, Catarina aumentaria o ritmo da sua produção poética e começa a politizar-se, abordando temáticas inerentes à época, como a Revolução Francesa, a Guerra das Laranjas (conflito que opôs Portugal à Espanha e à França), as invasões francesas e a partida da família real para o Brasil,

assim como as lutas travadas entre liberais e miguelistas.
Poesia interventiva que, em 1821, já com 72 anos, a levaria a subir ao palco do Teatro São Carlos, em Lisboa, para cantar os libertadores da Pátria, que pediam o regresso do Brasil do rei de Portugal.
Efetivamente, poetisa até ao fim, poucos poemas seus são editados em vida, permanecendo manuscritos, com alguns deles a serem ditados ao eu confessor na hora da morte, dois deles compilados e impressos num jornal portuense, dois dias após o seu falecimento.
Transcrevemos um destes poemas finais e um outro de síntese da sua vida:
“Passei dos anos a estação primeira
Livre susto, isento de cuidado,
O meu nome entre muitos foi levado
Sobre as asas de forma lisonjeira.
Busquei do mundo a glória verdadeira, Que pode adquirir um peito honrado, Fugiu de mim o bafo envenenado
Da inveja mordaz, ímpia e grosseira.
Viajei, e corri terras estranhas, Amei os meus, e deles fui amada, Cantei heróis, e de outros fui cantada.
E depois de passar coisas tamanhas,
Nada ambiciono mais, que descansada
Comer ao pé do lar quentes castanhas”.

“Grande Deus, que do alto desse trono
Lanças o braço ao pecador contrito, Escuta do remorso o humilde grito, Das tuas leis perdoa o abandono
Tu, da Graça eficaz único dono, Que nunca a pena igualas ao delito, Dá sossego ao coração aflito, Tão próximo a dormir eterno sono.
Debaixo de uma mágica aparência, Encobri requintes de maldade
Mas qual é hoje a triste consequência?
Não me negues, Senhor, tua piedade!
Tiraste-me do abismo da imprudência, Dá-me uma venturosa eternidade”.
Da fama que outrora obteve restam agora manuscritos, alguns estudos e também uma referência de Garrett, que a recorda no Parnaso Lusitano. Quiçá, nestes 200 anos do seu passamento, algo mais se possa levar a cabo, para dar a conhecer a sua vida e obra.


Mariano da Rocha Felgueiras nasceu há 140 anos
João Barroso da Fonte
A coesa equipa redatorial da revista OsmusikéCadernos 6 convidou-me a escrever três a quatro páginas sobre a vida e a obra do vimaranense Mariano da Rocha Felgueiras, assinalando os 140 anos do seu nascimento.
Na tarde em que pude preparar este compromisso, deparei-me com um sugestivo artigo, no mais antigo jornal do distrito de Braga, a que chamou: «O quarto poder». Não poderia procurar mais expressiva fonte para enquadrar este introito sobre os 92 anos de vida de um dos mais dinâmicos presidentes de Câmara de Guimarães.
Este título entrou na moda da democracia portuguesa, no último quarteirão do século XX, logo que a revolução dos cravos, afastado o PREC e instalada a liberdade, perdeu o medo de chamar os bois pelos nomes, como certos intrusos que, em nome da transparência e a coberto do abuso de poder, mandaram a justiça às malvas e trataram daquilo que atulhou os tribunais e abriu portas à Judiciária.
As prisões, as autoridades e o bom senso tentaram, a muito custo, separar o trigo do joio. E, só agora, começam a vir ao de cima as bolhas da espuma que ressoou.

Opúsculo editado pela Câmara Municipal de Guimarães em 1987, sobre o Centenário do nascimento de Mariano Felgueiras, assinalado em 1984.

No dia 15 de Maio em curso, completou O Comércio de Guimarães 140 anos de vida, tendo um dos seus mais assíduos colaboradores elegido como tema o contexto daquilo que pretendo dizer da fortíssima personalidade do antigo presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Mariano Felgueiras, nascido no mesmo

ano. Afirma Monteiro de Castro:
“já na universidade, em 1970, fui-me interessando pelos jornais porque o jornalismo, desde sempre, desempenhou um importantíssimo papel na vida das comunidades, nomeadamente a partir da descoberta de Gutenberg da impressão mecânica que permitiu a produção em massa de livros e outros materiais impressos, verdadeiro marco histórico que catalisou a disseminação do conhecimento e avanço da cultura, marcando o início da era da imprensa moderna”.

A Casa de Mariano Felgueiras na Rua da Rainha, número 117, em Guimarães. Foto incluída no opúsculo citado.
E acrescenta que a imprensa periódica chegou a Guimarães, em 1822, com o Azemel Vimaranense, tornando-se numa das primeiras cidades a beneficiar da imprensa local. Com esta benevolência evolutiva, chegou ao ano de 1884 que repetiu como «o ano que mudou Guimarães», título de um livro de Amaro das Neves. E, como não há duas sem três, o autor deste número especial que assinala o centésimo quadragésimo ano do semanário vimaranense, menciona a Revista de Guimarães, da Sociedade Martins Sarmento. Em torno desta mão cheia de eventos e de efemérides, que ocorreram no tal «ano que mudou Guimarães», tão oportuno reforço, ainda cita: “a Exposição Industrial, a criação da Escola Industrial e a chegada do caminho-de-ferro à Cidade Berço”. Verdadeiramente a década de 1880 foi, merecidamente, das mais relevantes do século XIX e foi graças a essa geração que Guimarães atingiu o pico máximo em vários ângulos de visão.

Mariano Felgueiras foi um dos mais entusiastas republicanos locais. Após a queda da monarquia, a 5 de Outubro de 1910, foi uma das mais activas figuras da política vimaranense.
Neste contexto, deixamos aqui um pequeno excerto do relato que, nessa data histórica, José Joaquim dos Alves fez na imprensa local:
“Saíram desta cidade em direcção a Braga os grandes heróis da Proclamação da República, pelas 3 horas da tarde do dia 6 de Outubro e chegaram a esta cidade 9 horas da noite, em automóveis, empunhando Bandeiras Verde e Vermelha, símbolo cor da República. Estes cavalheiros eram o Veterinário da Câmara, um Beltrão e um José Teixeira de Abreu Carvalho, guardasoleiro (sic), Avelino de Faria, Mariano Rocha

Felgueiras, Doutor Eduardo Almeida Júnior Guimarães. O Snr. Doutor Eduardo Almeida, da varanda do Senhor José Maria de Souto, discursou ao Povo, que estava proclamada a República em Portugal, ao que os republicanos responderam com muitos Vivas e palmas. Depois seguiram pelas ruas da cidade, dando vivas à República, com archotes e bandeiras. E diziam-se que iam às casas dos Padres de Santa Luzia, mas prevenidas as autoridades, estas mandaram para lá uma força de infantaria 20 para não os incomodar, tanto a estes como ao Seminário e às Doroteias (...)”
Mariano Felgueiras nasceu para o bom combate por Guimarães
Em 8 de Agosto de 1876, o Governo Civil de Braga mandou uma carta à Câmara Municipal de Guimarães, através da 2.ª repartição da Direção Geral da Instrução Pública, alertando-a para manter um claustro urbano, para fins que à autarquia não interessavam. A Câmara anuiu, por unanimidade, mas sem convicção. Contudo, a Sociedade Martins Sarmento, que foi uma espécie de íman, no melhor sentido, para a cidade e para o concelho, ultrapassou qualquer dificuldade. E o projeto de Martins Sarmento, nessa fase inicial
“não foi totalmente alheio à influência do arquiteto, arqueólogo e fotógrafo, Joaquim Possidónio Narciso da Silva (1806-1896), que era apoiante da Família Real Portuguesa. Estudara no estrangeiro, trabalhava no Palácio da Ajuda, às ordens da Rainha D. Maria Pia, e liderava o Segundo Congresso Internacional de Paris”.
Maria José Meireles, na sua tese de mestrado sobre o Património Urbano de Guimarães, nos séculos XIX-XX, dedica uma narrativa a este período temporal que caraterizava a geração de ouro, em que Mariano Felgueiras coordenava os destinos de Guimarães, em várias frentes, em distintos períodos e diversas circunstâncias da causa pública.
Esta museóloga e investigadora vimaranense trouxe o tema ao conhecimento de quem puder consultalo desde o ano dois mil. É um trabalho hercúleo que completa dois outros estudos anteriores, mas já do fim do século. É justo ligar os três estudos, porque compensam a míngua de trabalhos académicos produzidos pela Universidade do Minho e por autores que Guimarães ainda mal reconheceu capazmente. São eles: Maria da Conceição Falcão Ferreira e Maria José Meireles.
Aquela publicou Uma Rua de Elite na Guimarães Medieval, como tese de mestrado, na década de 1980. E, em 16 de Dezembro de 1997, defendeu a sua dissertação de doutoramento com a obra: Guimarães: Duas Vilas, um só povo - Estudo de história urbana (1250-1389).
Esta defendeu, igualmente, na universidade do Minho e com data da mudança de século, o Património

Urbano de Guimarães nos séculos XIX-XX. É um estudo que pode considerar-se complementar do período histórico, entre o princípio da nacionalidade e 1389 e o Portugal democrático, em que nos encontramos.
Mariano da Rocha Felgueiras, nascido há 140 anos, na freguesia de Mesão Frio, em Guimarães, foi um destacado político durante a primeira República Portuguesa.

Assinatura da Ata de Doação do Espólio de Mariano Felgueiras, pelo Presidente da Câmara, Manuel Ferreira, e pela viúva, Mme Jeanne Felgueiras. Foto incluída no opúsculo citado.
Viveu 92 anos, no número 117 da Rua da Rainha, e faleceu na venerável Ordem Terceira de S. Domingos, em 24 de Janeiro de 1976. Oriundo de uma família bem conceituada, fez o bacharelato em Direito, chegando a ser professor na Escola Industrial e guarda livros na empresa de Santos Costa. Terminou esse grau académico em Coimbra, em 1918. Mas nessa altura já tinha aderido ao republicanismo e ingressado na Câmara, em períodos mais turbulentos, após a proclamação da República.
Mariano Felgueiras foi empossado como Presidente da Câmara em: (1912-1917; 1919; 1923-1926) e foi a grande figura local da República, nos seus dezasseis anos de regime. Em 1910 é designado vice-Presidente e, dois anos depois, é nomeado Presidente, cargo que exerceu até 1917. Na sequência do golpe militar de Sidónio Pais, é afastado, mas, após o fim da "Monarquia do Norte", em 13 de fevereiro de 1919, com o regresso dos republicanos ao poder, encabeça uma nova equipa integrada por todos os partidos republicanos: Democráticos, Evolucionistas, Unionistas e Socialistas.
Retomo a época áurea de 1880 para recordar o périplo político de Mariano Felgueiras que terminou o curso de Bacharel em Direito, na Universidade de Coimbra, em 1918. Mas, ainda estudante, fora guardalivros na Firma Bento dos Santos Costa. E, em 1908, altura em que foi criado o Centro Republicano de Guimarães, fez-se sócio e, com a proclamação da República, deu nas vistas a nível local, regional e nacional. Militou no partido Republicano Português de Afonso Costa e, excetuando as lideranças das ditaduras de Pimenta de Castro (1915), de Sidónio Pais (1917-1918, e a chamada “Monarquia do Norte”, em 1919), Mariano

Felgueiras integrou todas as comissões executivas da Câmara Municipal de Guimarães.
Nesse período, ainda teve de assumir as consequências da primeira Grande Guerra. Em todo o país, esses obstáculos incidiam com as administrações concelhias, além de outras similares, advindas da pandemia de 1918. Ademais, este autarca enfrentou diversos projetos de melhoramentos como foi a construção dos novos Paços do Concelho que implicaram não só a edificação, como a extinção do anterior edifício. Em 1922, com a sua eleição para deputado pelo círculo de Guimarães, reeleito em 1925, bateu-se pela criação do Curso Comercial na Escola Industrial Francisco de Holanda e, ainda, pela instalação dos Correios no Palacete de Minotes (rua de St° António). Preocupouse também com os monumentos históricos da cidade, como a Capela de S. Miguel; o Castelo da Fundação, que estava em mau estado; o Paço dos Duques de Bragança e a Muralha que delimita o chamado Centro Histórico que, agora, é Património Cultural da Humanidade.
Esse conjunto de Monumentos nacionais do Altar da Pátria, ou Colina

Mesa da Sessão de Homenagem ao Dr Mariano Felgueiras. Da esquerda para a direita: Dr António Felgueiras, Dr Pinto dos Santos, Mme Jeanne Felgueiras, Manuel Ferreira (Presidente da Câmara Municipal de Guimarães), Prof. Emídio Guerreiro e Dr José Maria Maria Machado Matos (Presidente da C. M. de Felgueiras). Foto incluída no opúsculo citado


Recorte do semanário “O Povo de Guimarães”, edição de 20 de Junho de 1997. Na pág. 21, Helder Rocha assina um artigo onde defende que o primeiro Presidente do Vitória Sport Clube foi António Macedo Guimarães.

Sagrada, como também é conhecida a zona envolvente do Castelo, sinaliza o chão sagrado da Portugalidade e, consequentemente, da Lusofonia. E foi uma das primeiras preocupações do republicanismo em Guimarães. A esse conjunto monumentalizado, deveria a Câmara requerer que se acrescentassem: a parte da muralha, recentemente adiada para outro 24 de Junho e, sobretudo, a emblemática frase que lá foi colocada pela mão do povo: «Aqui nasceu Portugal». Esse mural poderá ser a mais sugestiva legenda para assinalar os 900 anos de Portugal, a celebrar, em 24 de Junho de 2028.


Mariano Felgueiras foi deputado até às legislativas do 28 de Maio de 1926. Nessa altura, foi instituída uma ditadura militar que sujeitou os Portugueses aos 48 anos de fascismo que o 25 de Abril de 1974 extinguiu. Sendo um republicano convicto, envolvido nessa confusão fascista, durante a década mais quente dos 48 anos, teria causado embaraços permanentes, por inseguros. Teve, por isso, de exilar-se, primeiramente, na Galiza, em 1926. E, depois, na França, de onde só regressou, em 1948. Nessa ausência forçada, foi militando, através da imprensa, mormente nos jornais de Guimarães.
O que a inteligência artificial diz sobre o 1.º presidente do Vitória?
Apesar dessa entrega à vida pública, Mariano Felgueiras, que ainda pôde saudar o advento da democracia e participar nos eufóricos atos públicos que se lhe seguiram, as entidades políticas e culturais que se lhe sucederam, foram poucas e modestas. E, relativamente às suas ligações e preferências concelhias, o seu próprio nome terá sido trocado, com o de um seu filho, enquanto primeiro presidente do Vitória Sport Clube. Essa confusão tarda a ser corrigida e, ainda bem, se esta dúvida ficar esclarecida.
Aproveito este trabalho para testar o mérito ou demérito da inteligência artificial, pela primeira vez, em público. Consultei o Copilot da Microsoft e a resposta à pergunta sobre quem foi o primeiro presidente do Vitória. O Copilot respondeu:
“Mariano Rocha Felgueiras foi uma figura proeminente, durante a primeira República, em Guimarães. Filho de Mariano da Rocha Felgueiras, um dos presidentes da Câmara Municipal de Guimarães, na 1 ª República assumiu a presidência da Direção do Vitória Sport Clube, aos 18 anos. Foi mencionado pela primeira vez em uma notícia do extinto jornal «Voz de Guimarães», em 1 de fevereiro de 1923. O

historiador António Amaro das Neves descobriu que Mariano Felgueiras foi o primeiro presidente do Vitória, desbancando a crença anterior de que António Macedo Guimarães havia ocupado esse cargo. Essa revelação ocorreu durante a apresentação do livro «O Clube do Rei - 100 anos, 100 cartoons» de Miguel Salazar, nesse centenário.
Em 1922, Mariano Felgueiras foi eleito deputado pelo círculo de Guimarães e, posteriormente, reeleito para a legislatura seguinte, em 1925. Durante este seu mandato defendeu a criação do curso comercial na Escola Francisco de Holanda, onde também atuou como professor em 1926. E desempenhou um papel significativo tanto na política local como no desporto em Guimarães, durante o período republicano. Sua contribuição foi marcante para a história da cidade e do Vitória Sport Clube” .
Em que ficamos?
Embrenhei-me na historiografia Vimaranense e depressa me apercebi de que as três ou quatro páginas eram espaço exíguo para personalidade tão útil e tão dedicada à sociedade Portuguesa. O século XX foi desastrado para os portugueses. A troca da monarquia pela república, as duas grandes guerras, a perda das províncias ultramarinas e a emigração massiva empobreceram o país, quer em população, quer em meios materiais. Guimarães não foi exceção em tamanha crise. O concelho era o mais industrializado a norte do Rio Douro, com exceção do Porto. A submissão política a Braga era um flagelo. E, perante esta barreira política, a população sentia-se desejosa de liberdade plena. A geração dos quadros técnicos e políticos ansiava a mudança de regime. Dezenas, talvez centenas, de Vimaranenses - à imagem de Mariano Felgueiras que abriu muitas portas e rasgou muitos horizontes, na história de mais de meio século

Na sessão do Centenário do Vitória Sport Clube, historiador Amaro das Neves defendeu que o primeiro presidente do Clube foi o filho homónimo de Mariano Felgueiras. (in staging.tempodejogo.pt)

de Vimaranensismo.
O exemplo da sua dinâmica quase adveio por via do futebol. A minha consulta à inteligência artificial veio confirmar que Guimarães encerra muitos mistérios que ainda não foram escancarados às gerações que nos vêm substituindo. Mariano Felgueiras é um exemplo de cidadão cujo mérito foi tarde e mal reconhecido.
Manuel Ferreira denunciou esta injustiça numa homenagem que a Câmara, através dele e da Família, lhe prestaram 8 anos depois da sua morte.
Nota pessoal
Tive a sorte de participar, em 1984, na homenagem que a Câmara de Guimarães prestou ao Dr. Mariano da Rocha Felgueiras, pelos 100 anos do seu nascimento. Essa homenagem decorreu na antiga Biblioteca da Gulbenkian, no Largo Oliveira, onde foi organizada uma exposição de fotos e pertences alusivos ao percurso do autarca republicano.
Manuel Ferreira era o Presidente da Câmara nesses três anos (1982-1985). E na sua intervenção declarou:
“(…) pena é termos que testemunhar a falta de participação de muitos Vimaranenses que tinham obrigação de ali estar, já que o ato pretendia reconhecer os méritos desse autarca”.
Ali estiveram: o Dr. Santos Simões, o Professor Viegas Guerreiro, Joaquim Fernandes, Dr. Pinto dos Santos, o Dr. José Maria Machado Matos e o Presidente da Câmara de Felgueiras. Manuel Ferreira explicou, ainda, as razões da homenagem, agradeceu ao público e apresentou sentimentos à Família, presente e ausente. Nomeadamente: a viúva Mme Jeanne Felgueiras e o primo Dr. António Baptista Felgueiras. Usaram da palavra, além do Presidente da Câmara, o Dr. Manuel Pinto dos Santos, o Dr. José Maria Machado Matos, o Professor Viegas Guerreiro e a viúva.
Com o programa da homenagem e as intervenções, Manuel Ferreira organizou um opúsculo de 44 páginas. Só foi possível inserir os textos dos participantes que leram as mensagens. Aí foram inseridas quatro fotos: uma das quais da “assinatura da Ata de doação do espólio de Mariano Felgueiras, à autarquia”.
Sucedeu que a cerimónia foi em 1984, mas o pequeno livro só foi publicado, e pago, em maio de 1987. Nessa altura, António Xavier era o presidente (praticamente sem poderes). Mas o CDS aliou-se ao PS. E,

durante dois anos, O PSD ficou reduzido aos seus 4 eleitos, porque o voto de desempate da CDU era aleatório.
Se a oposição não se tivesse rendido, nem o mandato chegaria ao fim, nem António Xavier teria ficado com rótulo de ter entregue o ouro ao bandido. Desse epíteto nunca mais se livrou. Já passaram 34 anos!
Com minúcias destas se faz a História. Entre mim e Manuel Ferreira sempre houve cavalheirismo. E o opúsculo de 44 páginas ficou registado na nota pessoal, destes dois vereadores que tiveram competência para simplificarem um gesto minúsculo, na biografia do Vimaranense Mariano da Rocha Felgueiras, que viveu 92 anos e que nasceu no ano de 1884, porventura o ano que mais e melhores filhos Guimarães deu à Sociedade Portuguesa. Fica aqui o registo enquanto estamos vivos.
José ISABELINO Martins COELHO (1924-2013), artista vimaranense, nascido há 100 anos na freguesia da Oliveira, a 11 de abril, exerceu ao longo de vários anos funções administrativas diversas, no âmbito do Ensino Superior. De facto, Isabelino Coelho (IC) iniciaria a sua carreira profissional nos serviços administrativos da Universidade de Coimbra, a partir de 1945, e posteriormente na Escola Superior de Belas-Artes do Porto (ESBAP), entre 1962 e 1970, nas funções de Chefe da Secretaria. Mais tarde, assumiria a chefia dos Serviços Académicos e dos Serviços de Contabilidade da Universidade do Porto e ainda, a partir de 1982, o cargo de Secretário da Faculdade de Farmácia do qual se desligaria em 1986, para se dedicar a tempo inteiro à pintura.

Isabelino Coelho Equipa redatorial

Administrativo em termos profissionais e autodidata quanto à sua formação artística, IC conta-nos, na primeira pessoa, no texto datado de dezembro de 1996, intitulado” A Minha
Descoberta da Pintura na ESBAP”, esse seu despertar estético:
“(…) Atingido pelos hálitos dos pigmentos e por essa ambiência artística impregnada de um grande humanismo, a minha sensibilidade artística hibernada desde os 13 anos de idade, foi despertada para o mundo dos sonhos e da fantasia. Naquela idade, uma reprovação nos estudos mereceu uma punição de meu pai – trabalhar numa oficina de marcenaria no período das férias grandes. O resultado foi a execução do meu primeiro trabalho em talha – o retrato de Richard Wagner.
Alheio a todo o ensino da pintura, foi o funcionário Manuel Campos, que apoiava as aulas de tecnologia, que me ensinou a mexer nos pincéis, a diluir as tintas e colocá-las na paleta. A pintura manifestou-se pelo estilo “naïf” que nada tem a ver com os modelos de ensino daquela Escola, hoje Faculdade integrada na Universidade do Porto. Desde o início procurei criar uma técnica diferente, fabricando os meus próprios pincéis, mas a morosidade da sua execução levou-me a abandoná-la (…)
Na minha opinião, a pintura “naïve” é uma ingénua transfiguração de tudo o que rodeia o artista, através de uma visão metamorfoseada do ser humano e do mundo, uma atmosfera imagística muito original e pessoal. A linguagem pictórica procura exprimir as minhas reflexões sobre os conflitos de ordem moral,

social, religiosa, política, ecológica, etc., que afetam o homem. Com uma intencionalidade mensagística, tento criar espaços cénicos que transmitam essas preocupações, em que o simbolismo das imagens possa provocar um diálogo com o espectador.
A mensagem que procuro transmitir força-me, por vezes, a seguir novos caminhos novos na pintura “naïve”, levando a interrogar-me se a designação de “pintura primitiva moderna” não será a que melhor acolhe o pensamento simbólico-idealista da minha pintura. Na minha opinião, o meu trabalho consubstancia-se na pintura primitiva, que colhe os frutos de uma grande imaginação que, numa corrompida sociedade hodierna, se interroga sobre os mistérios do ser humano”.
Com efeito, em 1966, Isabelino Coelho descobriria a pintura cerca dos seus 40 anos, pelo que somente em 1970 estrear-se-ia publicamente numa exposição individual na Galeria Alvarez, no Porto. Um despontar estético que alguns críticos insinuam decorrer duma libertação do meio burocrático e real do mundo profissional, a que não serão alheias as influências das pinturas da selva de Henry Rousseau e o “Jardim das Delícias” de Jerónimo Bosch. Porém, uma composição e modelagem de figuras independentes de qualquer tradição académica, irradiando uma grande força poética naïve.
De facto, a partir dos anos 70, o artista autodidata percorreria o mundo com a sua “pintura primitiva moderna”, quer em exposições individuais quer coletivas, que lhe valeriam várias menções honrosas e prémios, nomeadamente, logo em 1971, o 1.º Prémio, no II Salão de Artistas de Domingo – Salão Primavera, em Lisboa, que depois repetiria, no II Salão Internacional de Pintura Naïve, em 1991, na Galeria do Casino Estoril. Guimarães, a sua cidade-berço, teve também o prazer e a honra de apreciar os seus trabalhos, algumas vezes: nos Paços dos Duques de Bragança, entre 18 de junho e 7 de julho de 1990; e na Sociedade Martins Sarmento, entre 28 de julho e 11 de agosto de 1979, instituição a que regressaria em junho/julho de 1993, e que tem à sua guarda algumas pinturas do artista.
Ademais, a Câmara Municipal atribuiria ao pintor a medalha de Mérito Social em Prata, em 1999 e outrossim criaria o Museu de Arte Primitiva Moderna de Guimarães, que se instalaria no edifício histórico do século XIV dos antigos Paços do Concelho, implantado entre a Oliveira e Praça de S. Tiago, que mais tarde viria a encerrar.
Além disso, em 11 de janeiro de 1991 o Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, António Magalhães, apresentou ao executivo uma proposta de criar o Museu de Pintura Primitiva Moderna (MPPM), que seria aprovada por unanimidade e logo no dia 15 desse mês daria posse à Comissão Instaladora do Museu,

constituída pela Câmara Municipal, Círculo de Arte e Recreio, Galerie Pro Arte Kasper, Isabelino Coelho, Joaquim dos Santos Simões e Nuno Lima de Carvalho.

Isabelino Coelho, óleo sobre tela, coleção do autor.
Posteriormente, em 31 de julho o Presidente da Câmara de Guimarães deslocou-se ao Casino do Estoril, onde recebeu o primeiro grande conjunto de obras destinado a integrar o MPPM. Assim, na sequência de uma primeira oferta coletiva dos trabalhos destinados ao Museu de Arte Primitiva Moderna de Guimarães, em novembro de 1991, dar-se-ia um passo decisivo para a concretização deste espaço cultural, o primeiro na Europa com esta designação, que inicialmente reuniria 68 trabalhos oferecidos por 55 artistas portugueses. Como escreveria António Magalhães, Presidente da Câmara, no catálogo da citada exposição, um espaço de “enriquecimento cultural de Guimarães, e da nossa região, que só foi possível devido à generosidade de um Vimaranenses e prestigiado Pintor, mestre Isabelino, e do Ex.mo Sr. Dr. Nuno Lima de Carvalho que, com o seu saber e prestígio, conseguiu, desde cedo, garantir um importante conjunto de obras para o Museu”.
Deste modo, por ocasião das comemorações do 24 de junho de 1993, seria inaugurado o Museu de Arte Primitiva Moderna com um acervo patrimonial de 160 trabalhos, que se definiria como uma referência museológica única, no género, no nosso país.
Um museu que, além de expor publicamente o seu espólio por vários anos, organizaria ainda a partir de 5 de março de 1999, o I Salão de Pintura Primitiva Moderna, que seria antecedido de um concurso subordinado ao tema “Guimarães e o seu Património Histórico”, bem como se regista ainda, em setembro de 2007, a realização no MPPM de uma Exposição de Arte Plástica de Artistas Famalicenses e do Vale do Ave.

Quanto ao seu legado, inúmeros são os artigos, críticas e opiniões. Citemos, por exemplo, “O Comércio do Porto” de 26 de março de 1974, aludindo a sua exposição no Salão Nobre da Faculdade de Ciências: “ Na sua aparente ingenuidade – ingenuidade que não é ignorância mas pureza – as pinturas de Isabelino sugerem uma combinação de música, de pintura e de poesia, sem visões trágicas, sem pesadelos, sem desgraças, sem alucinações, levando os visitantes a respirarem, com volúpia, os perfumados segredos da inspiração do artista e o hálito de uma aparente Primavera, calma, vivificante, de eterna mocidade e eterno vigor.

Intérprete de capítulos da Bíblia e da epopeia cantada por Camões, crítico de pecados e virtudes humanas, Isabelino fala-nos plasticamente da refeição pobre do palhaço rico, da meditação do presidiário, do vício dos estupefacientes, do pitoresco dos grupos de casamento a serem fotografados nas escadas de uma igreja, dum concurso para catedrático de Medicina e de outros temas, quer de intenção social (como no “intervalo do almoço”) quer puramente subjetivo como “a encruzilhada da juventude” ou “os devoradores”.
Uma exposição na qual Júlio Resende esteve presente no ato inaugural e que assim se pronunciaria ao Jornal de Notícias de 16 de março de 1974:
“Parece-me estar perante uma manifestação que comove o observador pela sinceridade que ela exprime e na qual o artista põe um amor e dedicação totais. De realçar, ainda, a imaginação do autor, faceta, que em Portugal não é frequente num ‘pintor de domingo’. Esta obra de José Isabelino tem impacto tão particularmente desejado por muitos artistas”.
Isabelino, baixinho, redondo, jovial, sorridente e corretamente vestido, um pouco à antiga, assim o retrata o Jornal de Letras de 28 de janeiro de 1988, aquando da exposição badalada no Instituto Alemão de

Lisboa, tem, como escreve Alberto Correia, diretor do Museu Grão Vasco (Viseu), no catálogo da exposição de agosto de 1991, “o condão de nos levar de regresso às distantes paragens do Éden, território de impressionantes luminosidades de madrugadas e pôr-de-sóis originais, de mágica serenidade onde o silêncio se confunde com divinas harmonias trazidas por brisa temporal”.
Com efeito, contabilista de dia e pintor à noite, como escreve Paul Ide, “Coelho não pertence à categoria dos pintores naïve que se banham no rosa etéreo e na beleza extasiante. O seu universo é feito de pesadelos e povoado de monstros alegóricos. Tingida de ambiência surrealista, sua pintura tende para um moral que se prenderia ser o justo equilíbrio entre o bem e o mal. O trabalho relativamente brut é, entretanto, interessante pelo poder evocativo das imagens e dos símbolos”.

Efetivamente, embarcado nesta aventura, a sua capacidade metafórica das dores e dos desejos humanos abrir-lhe-iam novas fronteiras da Alemanha à Suíça, da Holanda ao Brasil, da Gulbenkian a muitas cidades e vilas do seu país. De facto, ainda que despojado do seu Museu de Arte Primitiva Moderna, em Guimarães, Isabelino Coelho continua presente em muitos espaços, merecendo, neste centenário do seu nascimento uma evocação devida e mostra da sua obra, que certamente estará algures (bem) guardada… A ver vamos…


Vida e Obra de Bernardo Valentim Moreira de Sá28 (1853-1924)
(Patrono que foi da Academia de Música da Sociedade Musical de Guimarães)
Armindo Cachada
No passado dia 2 do mês de Abril do corrente ano de 2024, comemorou-se o centenário do falecimento do musicólogo Bernardo Valentim Moreira de Sá, que foi patrono da Academia de Música, criada em 1992 no âmbito da Sociedade Musical de Guimarães, hoje designada Conservatório de Guimarães.
Para reabilitar um pouco a memória deste personagem que foi musicalmente marcante nos primeiros anos do século XX, deixamos aqui alguns apontamentos esclarecedores do que foi a sua influência musical em Guimarães, na transição do século dezanove para o século vinte, e da inspiração cultural que legou às instituições musicais que até ao presente lhe preservaram o nome e a memória.
Bernardo Valentim Moreira de Sá nasceu em Guimarães, em 14 de Fevereiro de 1853. Tem a idade de Guimarães como cidade, sendo apenas alguns meses mais velho, já que esta foi elevada a essa categoria em 22 de Junho do mesmo ano, pela Rainha D. Maria II.
António Carneiro, notável pintor vimaranense que deixou para a posteridade obras que dignificam o seu nome, desenhou-lhe o retrato em Novembro de 1923, quatro meses antes do seu falecimento, em 2 de Abril de 1924, aos 71 anos.
Nas notas biográficas insertas pelos seus filhos, no livro “História da Evolução Musical” (desde os antigos gregos até ao presente), que tinha em acabamento quando morreu, refere-se que foi violinista, discípulo de Marques Pinto e Nicolau Ribas, no Porto, e de J. Joachim, em Berlim, tendo dado o seu primeiro concerto

Bernardo V. Moreira de Sá – musicólogo
28 Síntese biográfica compilada por Armindo Cachada (Ex-Presidente da Sociedade Musical de Guimarães), em 26 de Junho de 2024

público aos oito anos de idade.
Como concertista realizou “tournées” pelos Açores, Madeira, Brasil e Argentina. Realizou audições com Viana da Mota, Artur Napoleão, H. Bauer, J. Thibaud, Guilhermina Sugia, P. Casals, Heckings, E. Arbós e M. Crikboom.
Foi Director de Orquestra e de coros orfeónicos e um dos fundadores, em 1874, da “Sociedade de Quartetos Clássicos”. Foi professor de música, de violino, de piano, de composição e de estética. Foi igualmente um dos primeiros propagandistas, em Portugal, das obras de Beethoven e de Wagner.
Como musicólogo realizou conferências e publicou livros. Nesta área, as suas obras principais são o “Compêndio e Diccionário da Música”, “Teoria Matemática da Música” (uma Comunicação apresentada ao Congresso de Londres da Sociedade Internacional de Música), “História da Música”, “Palestras Musicais e Pedagógicas” e “Anaes do Orfeon Portuense”, além de outras.
Foi um dos fundadores, em 1881, da “Sociedade de Concertos Orfeon Portuense”, de que foi director vitalício.
Foi também, em 1917, o organizador e primeiro Director do “Conservatório de Música do Porto”.
Foi ainda Vogal do “Conselho de Arte Musical” e, entre 1883 e 1918, Professor e Director da “Escola Normal do Porto”.

Paralelamente exerceu actividade docente como professor de Ciências Matemáticas, Línguas, Pedagogia, Estética e outras disciplinas, tendo publicado diversas obras sobre “História das Artes Plásticas”, “Aritmética”, “Geometria” e “Contabilidade”.
Bernardo Valentim Moreira de Sá foi ainda membro das Academias de Ciências e de Estudos Pedagógicos e da “Academia Real de Málaga”.
Esta é, em síntese, a biografia daquele que foi patrono da Academia de Música de Guimarães, uma escola fundada em 1992 pela Sociedade Musical de Guimarães e que está na génese do atual Conservatório de Música de Guimarães.


Recordações de uma cidade vivida
António José dos Anjos
Escrever este texto, em jeito das recordações da cidade de Guimarães, é reviver a minha adolescência e aquela época, anos 1963 a 1970, tão importante de aprendizagens, de descobertas, de amizades e de desenvolvimento pessoal.
Também é um reavivar as minhas origens e, na continuidade da vida, aos tempos que correram…
Nasci na freguesia de Penajóia, concelho de Lamego, a 5 de junho de 1951, embora nos registos oficiais conste o dia 16 de julho do mesmo ano, por motivos de atraso no ato declarativo do nascimento e sujeição a coimas, caso se indicasse a data exata.
Penajóia está formosamente situada na margem esquerda do rio Douro, na região denominada de Douro-Sul, de reconhecida amplitude geográfica, onde se encontram os picos da serra e as reentrâncias dos vales, serpenteadas por vinhas e pomares. A localização proporciona-lhe um microclima que é favorável à atividade de viticultura, uvas e vinho, mas também à produção frutícola e hortícola, destacando-se como pérola desta terra a mais saborosa cereja da Europa. Contudo, por força do marketing (técnica de engano), Resende, concelho contíguo, roubou-lhe a joia, já que no mercado é comumente apregoado “Cereja de Resende”.
Na dita freguesia, no lugar do Moledo, também designado “Por Deos” nos anais da história, banhado pelo rio Douro, cresci entre uma família humilde, com a ausência do pai que cedo partiu. A mãe queria fazer do pequeno um homem.
Por isso, mal o pequeno acabou a 4.ª classe e cumpriu mais dois anos de estudos preparatórios na cidade da Régua, Guimarães com ele!

Guimarães, o destino
Desde tenra idade residi em Guimarães nos meses de julho a setembro, aconchegado por minha mãe na faina de venda de uvas do Douro, no mercado municipal, e pelas ruas de Guimarães, com o cesto à cabeça e balança e pesos nas mãos, quando a clientela do mercado não esgotava a mercadoria (uvas) do dia.
Neste contexto, o negócio das uvas foi o facto e motivo determinante que me levou a frequentar o Curso Comercial, na Escola Industrial e Comercial de Guimarães, com a designação atual de “Escola Secundária Francisco de Holanda”.
Iniciando os estudos em Guimarães, em setembro de 1963, fiquei hospedado na rua de D. João, acolhido por uma família de nove pessoas, com carinho e ajuda que sempre recordei com o sentimento de agradecimento.
Esta rua estreita, com habitações coladas umas às outras, algumas com janelas e varandas antigas, adornadas com vasos de flores, era uma verdadeira comunidade de pessoas de todas as idades que frequentemente se cruzavam em palavras e sentimentos de fraternidade.
Os amigos, de imediato granjeados, colegas do Liceu e da Escola Comercial, eram a fonte de constante alegria, com vivências variadas e com o espírito de entreajuda, amizade e partilha, com tantas histórias para contar.
Começo pelas partidas de futebol, com bolas e balizas improvisadas, na rua de D. João e nos espaços circundantes ao extinto Campo da Amorosa, onde, hoje, se localiza o Estádio do Vitória.
Recordo a ânsia de furtarmos uma bola de futebol das que saltavam o muro do Campo da Amorosa, no decurso dos treinos do Vitória, quase sempre sem êxito. O guarda do campo célere e diligente vinha de imediato recolher as bolas tresmalhadas e gritava “moços largai as bolas”, o que de imediato era respeitado.
Outro acontecimento, digno de nota, que se repetia em cada ano, era a participação do nosso grupo de amigos e de outras pessoas na organização, preparação e animação das festividades de S. João, ao longo da rua de D. João.
Para além de enfeitarmos a rua com muitas cores, utilizando os materiais da época, havia também uma intervenção cultural através de escritos em prosa ou poesia, em cartazes expostos nas portas de entrada de estabelecimentos comerciais ou penduradas nos fios de arame com os enfeites que ladeavam a rua e também por via sonora, entre intervalos de cantares alusivos.
Tudo isto enchia o nosso coração de alegria e dava sentido ao nosso querer e vontade, já que era obra

nossa e de todos para todos.
Já que estou em maré de festas, expresso a excelência das Nicolinas que as gerações seguintes continuaram, graças a DEUS, até hoje. Merece também realce, as Gualterianas, com toda a sua imponência e majestosas procissões, acontecimento que envolve toda a cidade, desde sempre!
A caminhada escolar, curso Comercial e Curso de preparação para o Instituto Comercial do Porto, decorreu com normalidade.
O meu reconhecimento a todos os professores, com especial ênfase para:
- O Professor Amaral (Português);
- O Professor Hélio Osvaldo Alves (Inglês); e
- O Professor Lema (Física).
Deste último, o Professor Lema, recordo a expressão que recorrentemente proferia e que me serviu de farol na caminhada da vida, “Máxima Liberdade, Máxima Responsabilidade”.
Do Professor Hélio Osvaldo Alves guardo a memória de professor ímpar, de elevado nível de conhecimento e autor do livro “Two Steps Forward”, humanista consagrado, que o regime político ostracizou. Quando a luz da liberdade irrompeu, com o 25 de Abril de 1974, foi de imediato apontado para professor universitário, circunstância que se concretizou ao assumir a atividade de docente na Universidade do Minho.
Quanto ao professor Amaral realço a sua inquietude com o nosso fraco desempenho na disciplina de português: Numa determinada prova que todos fizeram à pressa, dada a proximidade de uma partida de futebol de salão no Pavilhão Gimnodesportivo, junto ao atual estádio, que a minha geração com grande satisfação e ansiedade inaugurou.
Consequentemente, as classificações da dita prova foram, em geral, péssimas. Na apreciação das mesmas, revoltado, disse: imaginem que o António, nome de referência, escreveu que no fim tudo tinha casado, quando o texto não aludia a qualquer casamento. O dito António levantou-se e disse: Está errado senhor professor… Eu escrevi… “e no fim tudo tinha cessado”.
Na esteira da Escola, trago à lembrança um acontecimento ocorrido em 1969 - ano de eleições para a Assembleia Nacional.
Como tinha conhecimentos e prática de datilografia, matérias do Curso Comercial, acedi ao convite escrito num papel colocado na montra de um pequeno escritório de R/C, em frente ao Teatro Jordão: “Se sabes escrever à máquina (datilografia) entra”.

Assim fiz. Deram-me uma lista de nomes e respetivos endereços e uma caixa de envelopes e incumbiram-me de datilografar em cada envelope o nome e a morada de cada pessoa.
Sem saber ao que vinha, a não ser o propósito de treinar datilografia, apercebi-me que do outro lado da rua (um pouco no interior da entrada larga da Garagem de Serviços e Posto de Combustíveis da Shell) estava permanentemente um polícia a observar.
Passados alguns dias fui chamado ao diretor da Escola Comercial, O Dr. Daniel. Logo à entrada, no espaço amplo do seu gabinete fui indagado em tom gravoso “Oh rapaz! por onde é que tu andas?!”.
Na minha ingenuidade, fiquei perplexo, sem saber o sentido e alcance da pergunta. Mais umas palavras de admoestação, seguidas de uma recomendação – tem juízo, toma consciência dos factos. Estavam em causa as eleições de 1969 e a oposição ao Governo instituído.
Em abono e homenagem ao diretor “Daniel” quero realçar que, apesar da dureza do regime político, que representava, era um homem bondoso e acessível.
Voltando à rua de D. João, recordo e revivo, no presente, a malta “Os mangas”, grupo de convívio formado no dinamismo da nossa juventude, que hoje permanece, entre outras manifestações, com um convívio anual de celebração.
Em particular, lembro o célebre campismo no ano de 1969, na praia das Marinhas, em Esposende, onde com parcos recursos de equipamentos, tendas improvisadas e escassos víveres (alimentos), demos azo a um oceano de alegria e fraternidade.
Na vertente desportiva prestei provas no Campo da Amorosa, mas o calor e o pó do campo, de piso de terra, de imediato me fizeram desistir da prática do futebol como atleta do Vitória.
Ingressei no “Francisco de Holanda”, na modalidade de andebol, participando em alguns jogos, como guarda-redes, no Pavilhão Gimnodesportivo Municipal. Com algumas boas defesas, mas com mais frangos no meu “score”, acabei por desistir.
Optei pelo voleibol, como atleta federado do Vitória de Guimarães, o meu clube de sempre, com êxito, dado que era convocado para os jogos. Vencemos o campeonato distrital de Braga, e participamos no campeonato nacional, no Pavilhão da Luz, junto ao estádio do SL Benfica. Fizemos o nosso melhor em honra e nome da cidade berço.

Na atualidade
Como resenha de vida, em 2023, completei 50 anos de contabilista/economista/auditor e em junho de 2025 completo 50 anos de professor, dos quais 27 anos no ensino superior.
Com relevo, destaco que a Anjos & Associados, SROC, Lda, sociedade que integro, é, na época em curso (2023/2024), Revisor Oficial de Contas (Órgão de fiscalização) do Vitória Sport Clube.
Hoje e sempre, tenho Guimarães no coração.
Lembranças de um Finalista 71
Torcato Freitas


Introdução
Em outubro de 1969 cheguei a Guimarães para frequentar o último ciclo dos estudos liceais (antigo 7.º ano), vindo do Externato de Vila Meã, onde completei o 2.º ciclo liceal, recentemente inaugurado, à época, mas não tendo continuidade de ensino para o último grau do ciclo. Acontecia o mesmo em múltiplos concelhos vizinhos de Guimarães como Paços de Ferreira, Felgueiras, Lousada e outros tendo os alunos dessas regiões a necessidade de frequentar outros estabelecimentos de ensino como o liceu de Guimarães. Já tivera contacto com o Liceu em julho do mesmo ano quando da prestação de exames nacionais do 2.º ciclo e pude, então, contactar com outros alunos, nas mesmas condições que as minhas, e que manifestavam intenção também de o frequentar o que reforçou a minha vontade de me transferir para Guimarães no período letivo seguinte.
A primeira residência foi numa casa particular perto do edifício do Liceu Nacional de Guimarães e após surgir uma vaga passei a viver na Rua de Santa Maria, numa casa onde hoje funciona a Biblioteca Municipal Raul Brandão. Habitávamos, no último andar da casa, num quarto/camarata muito espaçoso e que alojava 5 estudantes (três alunos de liceu e dois da escola industrial) e que até permitia “corridas de camas”. Tinha três janelas que davam para o largo da Câmara Municipal e para a rua de Santa Maria e, no prédio contíguo, estava alojado o quartel da GNR, vizinhança que dificultava, por vezes, as nossas partidas.
A Rua de Santa Maria era, nessa altura, uma rua tranquila, com pouco movimento, o que nos permitia fazer algumas brincadeiras a outros colegas que nela passavam e, por vezes, lá vinham jarros da água lançados de uma das janelas enquanto de outra distraíamos os desprevenidos amigos e respondíamos também com muita facilidade ao chamamento para um joguinho de futebol sempre que havia gente disponível. Recordo ter assistido, no Largo da Câmara, a duas grandes manifestações - uma de júbilo pela vitória em

competição internacional do atirador Eduardo Jordão e outra de apoio à integridade do concelho de Guimarães, em resposta à pretensão da criação do concelho de Vizela.
Sempre que me recordo dos tempos de Guimarães, para além do excelente ambiente entre colegas, tendo muitos ficado nossos amigos para sempre, surgem as imagens ligadas aos jogos de futebol entre “alíneas “e entre escolas. Pertencia à equipa da minha alínea, a F, constituída sobretudo por rapazes, o que favorecia a seleção dos elementos e garantia uma boa equipa. As restantes alíneas constituíam a equipa adversária, também recheada de alguns bons jogadores. Pela nossa equipa alinhava o saudoso Mário Fonseca e fazíamos dupla dos defesas centrais que pelo seu benfiquismo fervoroso nos intitulava de Alhinho e Inguila, nomes dos verdadeiros centrais do seu clube. Toda altura era boa para jogar, quer no intervalo das aulas quer na parte da tarde quando não havia outros compromissos. Havia, na equipa adversária, um jogador de qualidade razoável, mas bom na escrita, que no dia seguinte dedicava uma página do seu comentário à exibição da sua equipa e meia página para a vencedora e uma página para a sua própria exibição, rematando a sua análise com a máxima: Nunes, esse pequeno grande médio! Outro grande momento desportivo era quando a equipa do Liceu enfrentava a da Escola Industrial, no velho campo da Amorosa, onde tinham lugar disputas de rivalidade acesa, ainda por cima presenciadas por forte apoio feminino a beneficiar a equipa da Escola (foto 1).

Foto 1 - O team de futebol F71: Da esquerda para a direita: À frente: Torcato, Mário Fonseca, Jesus, Benjamim; Atrás: Mota, Lima, Nunes, Berto Oliveira, Vaz, Marco
A Récita
Nestes breves registos não podia esquecer a festa de finalistas, com momentos notáveis, sobretudo pelo

brilhantismo da Récita, apresentada no Teatro Jordão com espetacular audiência e momentos de grande qualidade.
A minha intervenção foi discreta mas houve uma situação que me podia ser muito desagradável e que passo a contar: enquanto o espetáculo decorria, surgiu um contratempo que levou à paragem do mesmo e era necessário entreter a plateia pelo que avancei para o palco para contar uma anedota sem ter autorização do vice reitor que zelava pelo “bom comportamento “ do espetáculo e, ao entrar na boca do palco, foi evidente para toda a plateia que estava a ser puxado para trás pelo dito zelador, mas perante a visibilidade da placagem desistiu e permitiu-me contar a referida anedota que por sinal era completamente inocente. Quando regressei para trás da cortina fui intimado a comparecer no dia seguinte na sala da reitoria o que não aconteceu por esquecimento de ambas as partes.

O ciclo do liceu estava prestes a terminar faltando o almoço de despedida que decorreu no Bom Jesus, em Braga, com comparência de quase todos os alunos, professores e funcionários de apoio, de forma magnifica e inesquecível (foto 2).
Conclusão
Tendo terminado o curso de Medicina voltei a Guimarães para realizar o meu estágio clínico que decorreu no “velho “Hospital e no Centro de Saúde de Vizela tendo permanecido durante quase cinco anos ligado ao sistema de saúde de Guimarães e tendo a oportunidade de assistir, aqui, ao nascimento do Serviço Nacional de Saúde. Recordo com saudade as vezes que pude ser útil a um professor que me foi muito querido, o Prof. Boavida, já de idade avançada, mas com memória excelente. Por todas estas vivências, Guimarães tem um espaço muito especial nos meus registos afetivos e todos os anos estou presente, enquanto naturalmente puder, no almoço dos Finalistas 71 com outros 30-40 também finalistas, agora, queridos amigos.


Carlos Manuel Leite Ribeiro de Sousa
Só se olha para as Festas a S. Nicolau nas proximidades de 29 de novembro de cada ano. Mas a sua devoção deve ser seguida ao longo de todo o ano, pois devemos seguir o seu exemplo.
Como gosto de ler e tentar chegar a certas conclusões, o caso dos “festejos” do Santo, no antigamente, irei transcrever certas passagens da imprensa vimaranense, sobre o assunto em epígrafe, desde o início do século XX.
1 - Comércio de Guimarães, de 27/11/1906
“Festejos dos estudantes da aula de latim de Guimarães denominados de S. Nicolau”:
“De tempos imemoriáveis os estudantes desta cidade faziam uma função, que principiava por levantar-se um enorme pinheiro, no meio do Campo do Toural, tendo uma bandeira no cimo com o quadro de Minerva. Esse pinheiro dava de ordinário entrada pelas 7 ou 8 horas da noite conduzido dos arrabaldes da cidade, por seis ou sete juntas de bois, com muitos archotes e uma banda de música tocando o hino escolástico, indo à frente muitos estudantes tocando tambores e zabumbas.

No dia 5 de Dezembro pela uma hora da madrugada saía uma banda de música, indo na frente os estudantes, que iam às posses, isto é, a certas casas, em que os recebiam dando-lhes umas uvas (fruta de S. Festejos de S. Nicolau, 2023, foto do autor
Até ao dia 6 de Dezembro (dia de S. Nicolau) e desde o dia 30 de Novembro, ao começar a aurora, uma grande parte desses estudantes, com tambores e zabumbas iam a caminho de Nossa Senhora da Conceição, às novenas

Dâmaso), outras figos e aguardente (casas do professor Venâncio e António Pereira da Silva) e outros doces e vinho fino. Muitas destas pessoas que obsequiaram os estudantes já faleceram.
Na Cruz de Pedra, os oleiros davam o mato para o magusto, que se fazia no Largo do Toural, distribuindo-se as castanhas e o vinho da Comissão pelos músicos e homens que traziam o mato, sendo defeso ao estudante partilhar deste magusto, pois, como diziam os Padres Abreu e Vinhós, quando algum lhe aparecia, o magusto desta noite não era dos estudantes propriamente dito. O destes era em Santo Estevão de Urgeses na manhã do dia 6.

O ensino dos “Toques” do Pinheiro, foto do autor
Assim se passava a noite do dia 4 e a madrugada do dia 5 em contínua algazarra e alegria, havendo sempre mais ou menos desordem, que terminava sempre em cousa alguma”.
2 - Comércio de Guimarães, de 30/11/1906
“Festejos dos estudantes da aula de Latim de Guimarães denominados de S. Nicolau”:
“Pelas duas horas da tarde do dia 5 de Dezembro sairá o bando escolástico, com mascarados tocando tambores e zabumbas, organizado com diferentes carros alegóricos, com um estudante vestido de Guimarães e outro de Minerva, etc…
Então, um estudante, a quem era expressamente vedado assistir ao magusto da noitada, recitava o bando em verso, feito sempre por um dos melhores poetas desta cidade, distribuindo-o um outro estudante pelo povo, devidamente impresso, em que anunciava as danças, cavalhadas e exibições do dia 6, declarando que aquela festa era só exclusiva dos estudantes, e ai do que se metesse no festejo não pertencendo a eles, e!…
Um ano, um individuo de alcunha “O Maneta” ousou entrar mascarado nela. Os estudantes quando o reconheceram bateram-lhe tanto que lhe quebraram um braço, julgando que o deixaram morto. Outros pagaram com um banho no chafariz do Toural o atrevimento de tomarem parte nestes festejos.

Posto o bando na Rua, a primeira casa onde se recitava era na do Administrador, como sinal de respeito e permissão para ele prosseguir, e assim corria as ruas da cidade, até às 10 da noite.
No dia 6, pelo meio dia, vinham os estudantes da freguesia de Santo Estevão, para onde tinham ido, uns a cavalo, outros de carro, para tomarem conta da renda.
Todos ali, numa eira, completamente varrida pelo estudante mais novo, recebiam da Comissão castanhas, vinho e maçãs, pois era este o verdadeiro magusto dos estudantes” .
3 – Comércio de Guimarães, de 4 de Dezembro de 1906
“Festejos dos estudantes de Guimarães, denominados de S. Nicolau”:
“No dia 6, depois do magusto em Santo Estevão, a distribuição das maçãs e castanhas às damas de Guimarães, vindo os estudantes a cavalo, trazendo lanças enfeitadas com laços de seda, estes os mais pequenos, e a Comissão e outros estudantes mais taludos, em carros. Esta distribuição fazia-se pelo meio dia e terminava às duas horas da tarde.
Logo que chegavam ao Toural, a primeira coisa que faziam era dar uma volta em redor do pinheiro, com homenagem prestada à Deusa da ciência. Em seguida dispersavam, indo todos ou quase todos ao Convento de Santa Clara, hoje seminário, levar as maçãs às freiras, que as recebiam, fazendo troca com doces que lhes enviavam das suas celas em cestinhas, presas por fitas de cor.
Às duas horas da tarde saiam as danças, uma, a dos pequenos estudantes, outra, dos grandes.
Muitos anos foi o Fatinho (uma santa criatura) o seu ensaiador.
Que paciência ele não tinha para isto!
Em antes uns oito dias ia ele e o Padre Vinhós ou o Padre Abreu à aula de latim pedir ao Venâncio dispensa de estudo para as festas.
Mal entravam, isto sucedia quase sempre de tarde, todos os estudantes principiavam a fazer-lhes acenos, para que fossem enérgicos no pedido.
Venâncio, porém, imperturbável e frio, da sua cadeira, não prestava a menor atenção aos embaixadores. Afinal quando estes eram próximos da magistral cadeira, perguntava-lhes: - Que temos?
Eles a sorrir, respondiam: - pedem-se férias e já hoje se tem de fazer a escolha dos rapazes para as danças.
Ainda é muito cedo … continua dizendo a sua lição Sr…
- Nada, nada. O feriado é hoje preciso por se terem de escolher roupas, etc. Isto há de acabar um dia, dizia Venâncio. Os estudantes precisam de estudar. Vá, por este ano.
Pe. Vinhós, Pe. Abreu e Fatinho ralhavam e o Sr. Carlos, que era o director das obras do hospital, ou o pai dos senhores Abreus faziam a polícia de sarrafo em punho. Berravam, ameaçavam, mas riam-se ao mesmo tempo. Que saudades não sentimos por essa época de verdadeira e única felicidade! Ser estudante de

latim nesse tempo parece que constituía a prerrogativa mais nobre dos rapazes de Guimarães. Hoje que há verdadeiros estudantes e verdadeiros académicos, pois que passam por provas de exames, que os habilitam a um dia ocuparem na sociedade cargos importantes, vê-se ainda muita indiferença senão até frieza. Pois estes festejos tradicionais, e próprios de Guimarães, têm toda a razão de ser.
Diferentemente, sim, é certo, mas Coimbra, Lisboa e Porto, também um dia no ano presenciam as expansões académicas”.
“Festejos dos Estudantes da aula de Latim de Guimarães, denominados de S. Nicolau”.
Copiaremos dum jornal a origem deste costume antiquíssimo:
“No último quartel, talvez, do século passado, um cónego da I e R Colegiada doou aos rapazes coreiros em seu testamento uma renda, constando de certa medida de castanhas e maçãs, imposta a uma sua quinta de Santo Estevão de Urgeses.
Os coreiros iam ali todos os anos, no dia de S Nicolau, recebê-la, vindo depois a cavalo em hábitos de coro oferecê-los às pessoas mais gratas DA TERRA.
Esta velha usança, depois de renhidas demandas e peripécias, passou para os estudantes de latim em Guimarães, que deram ao caso as aparências duma grande festa com cavalhadas, com mascarados, danças, pregão em verso, alguns dos quais se devem à pena inspirada do mavioso poeta e distinto médico
João Evangelista, exibições, serenatas, espectáculos teatrais, tudo anunciado pela bandeira escolástica pomposa e solenemente içada na noite do dia 29 de Novembro no Campo do Toural, tendo lugar o resto e o mais ruidoso da festa nos dias 5 e 6 de Dezembro.
Era isto um privilégio tão exclusivo dos estudantes vimaranenses que quem se atrevesse a violá-lo, embora pertencesse à classe mais distinta, era irremediavelmente mergulhado no tanque do antigo chafariz do Toural.
No próximo número oferecemos aos nossos amáveis leitores alguns apontamentos sobre estes festejos”.
5 – Comércio de Guimarães, de 21/12/1906
“Festejos dos estudantes da aula de latim de Guimarães, denominados de S. Nicolau”.
Sobre esta antigualha oferecemos aos nossos leitores os seguintes apontamentos dispersos:
“No 1.º de Dezembro de 1821, o Juiz de fora Bento Ferreira Cabral proibiu as máscaras.
A 28 de Novembro de 1822, um bando do intendente da polícia também as proibiu, mas depois duma representação dos estudantes feita a Sua Majestade D. João VI, em prestaria a 2 de dezembro deu licença para os ESTUDANTES se mascararem nos dias 5 e 6 de Dezembro.

Por tão fausto acontecimento levantaram a sua bandeira, havendo fogo de ar e repiques a todas as torres da vila, iluminações em todos os prédios, saindo uma encamisada, acompanhada de muito povo que dava vivas às Cortes e a Sua Majestade.
Nos dias 12 e 13 de Janeiro de 1823, saíram os estudantes mascarados, acompanhando um carro triunfal com o retrato de D. João VI, cantando o hino Nacional e precedido duma brilhante dança.
No dia 10 de Março de 1837, venceram os estudantes uma demanda que traziam com o cabido, havendo por isso diversas demonstrações de regozijo.
Os festejos escolásticos que por assim dizer tinham terminado com a extinção da aula de latim renovaramse, em 1895, para o que muito tem contribuído o grande entusiasta por eles, Jerónimo Sampaio, e oxalá eles não mais caiam em desuso, e se aperfeiçoem quanto mais se possa.
Permita-nos o Sr. Jerónimo Sampaio que lhe lembremos para fazer o uso que entender de um alvitre que vinha sempre aos estudantes de latim passadas as festas, e era de que se formasse uma espécie de centro académico, com quotas mensais e recebendo subsídios durante os anos dos entusiastas antigos das festas e dando-se durante o ano algumas récitas para tal fim.
Lembrava-se isto muitas vezes, mas nunca se realizava.
Apenas em um ano se tentou organizar a Companhia Dramática de estudantes em que entravam João Luís Gomes, António Joaquim d’Azevedo Machado, João Joaquim de Oliveira Bastos e outros, mas tendo havido alguns ensaios dum drama, a certa altura tudo debandou.
Não sucedeu assim, em Braga, durante o tempo que à frente do Liceu esteve como reitor o Sr. Dr. Luís da Costa Pereira havendo récitas esplêndidas no Teatro S. Geraldo, dadas por estudantes, em algumas das quais entravam o Visconde de Pindela e Bernardo Pindela (hoje Conde de Arnoso) e até senhoras da primeira sociedade bracarense.
O produto das mesmas era aplicado nos festejos do 1.º de Dezembro.
Por que não fazem os nossos amigos Gaspar Roriz e Jerónimo Sampaio um “tour de force” neste sentido? Competência não lhes falta”.
Pelo que se vê, já no antigamente os estudantes de Guimarães eram irreverentes e já naquele tempo se tentou fazer o que hoje faz a Associação dos Antigos Estudantes do Liceu de Guimarães (AAELG).
Houve sempre nos nossos antepassados ideólogos e pessoal de muito nível.
Mas há mais, para a próxima iremos dar a conhecer mais coisas que estão no baú das ‘Nossas e eternas Festas Nicolinas’.

Condecorações honoríficas atribuídas pelo Município vimaranense
Equipa redatorial
Como habitualmente, a 24 de Junho, - Dia Um de Portugal - a Câmara Municipal de Guimarães distinguiu os seus eméritos “filhos”, prestando aos nomeados o devido reconhecimento pelo seu esforço, trabalho e mérito em prol da comunidade.

Desta feita, algumas entidades e várias pessoas seriam medalhadas, cujas distinções haviam sido Os medalhados, no ano de 2024, acompanhados pelas autoridades presentes (Ministro da Educação, Presidente da Câmara, Presidente da Assembleia Municipal) Foto de Paulo Pacheco

votadas e aprovadas por unanimidade no seio do executivo camarário.
Deste modo, seriam atribuídas três Medalhas de Honra da Cidade, a mais alta distinção do município, ao Jornal Comércio de Guimarães, fundado há 140 anos, à Escola de Engenharia da Universidade do Minho, em funções desde o ano letivo de 1977/1978 e ao Exército Português, enquanto a Irmandade de S. Torcato receberia a Medalha de Mérito Social, não só pelos seus serviços religiosos e patrimoniais, mas também pelas suas atividades culturais e sociais.
Por sua vez, a nível individual destacam-se ainda a Medalha de Mérito Social atribuída a Roriz Mendes, juiz da Irmandade da Nossa Senhora do Carmo da Penha, em especial pela sua prestimosa e zelosa ação na nossa montanha sagrada e a Medalha de Mérito Científico ao professor catedrático do Departamento de Informática da Universidade do Minho Paulo Novais, especialista em Inteligência Artificial.
Seriam ainda medalhados o prestigiado e premiado internacionalmente cineasta Rodrigo Areias, com a Medalha de Mérito Cultural e ainda Cristina Vaz, empresária da Indústria Têxtil Cristêxtil, com a Medalha de Mérito Empresarial, tendo em conta a sua ação internacional no mundo da moda.
A fechar o leque de galardoados, seriam ainda reconhecidos com a Medalha de Mérito Desportivo a atleta de fundo e corta-mato Dulce Félix, vencedora de diversas competições nacionais e internacionais nestas modalidades, assim como Rui Bragança, com inúmeras conquistas de pódios portugueses e estrangeiros no âmbito do taekwondo.

Gala do Desporto 2024
Equipa redatorial
Numa iniciativa que contou com a presença da vice-presidente da Câmara Municipal, Adelina Pinto, do vereador municipal do Desporto, Nelson Felgueiras, e do presidente da Tempo Livre, Amadeu Portilha, abrilhantada pela voz da cantora vimaranense Maria João Soares e a apresentação de Vítor Lopes e Katherine Pereira, decorreu, no passado mês de julho a habitual Gala do Desporto, que atraiu ao Toural, centenas de pessoas. Marcariam ainda presença o presidente da Assembleia Municipal, José João Torrinha, bem como os deputados municipais Ricardo Costa e Ricardo Araújo.

Aspeto geral da Gala do Desporto 2024, no Toural, no dia 13/07/2024
de Leonardo Ferreira
A GALA revelou-se bastante animada e pretendeu reconhecer o mérito desportivo da comunidade vimaranense, quer a nível individual quer coletivo.
Deste modo, várias distinções seriam atribuídas no decurso do evento, reveladoras da dinâmica

desportiva vimaranense, e que foram, a saber:
ATLETA DO ANO (MASCULINO), entregue a Pedro Gil, xadrezista do Vitória, que bateria os nomeados da natação, respetivamente João Costa, e Alexandre Amorim;
ATLETA DO ANO (FEMININA), recebida pela tenista Francisca Jorge, que ultrapassaria na mesma modalidade a irmã Matilde Jorge e Jéssica Miranda, atleta de voleibol. Porém e uma vez que a vencedora já aufere de apoios municipais estes acabariam por ser transferidos para Mariana Silva, que ficou em 4.º lugar;
JOVEM REVELAÇÃO DO ANO (MASCULINO), título conquistado pelo ginasta Salvador Oliveira, atleta do Guimagym, que suplantaria o futebolista do Vitória Afonso Meireles e o nadador vitoriano Miguel Oliveira; JOVEM REVELAÇÃO DO ANO (FEMININA), para Sara Ferreira (atletismo do Vitória), título que venceria destacada, não obstante terem também sido premiadas as finalistas Ana Luísa Freitas (atleta do Clube de Ténis de Guimarães) e a ginasta do Guimagym, Aylara Stadnyk.
Ademais, o Município de Guimarães e a Tempo Livre, promotoras do evento, reconheceriam ainda o mérito desportivo ao ex-ciclista e técnico da modalidade Mário Miranda com o Prémio de Homenagem e atribuiriam ao tenista João de Sousa e ao atleta de taekwondo Rui Bragança, ambos retirados das competições, Prémios de Carreira, que premeiam duas carreiras notáveis a nível nacional e internacional.
Por seu turno, nas novas gerações, o nadador do Vitória João Costa, qualificado para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, seria distinguido com o Grande Prémio do Júri.
Entre outros reconhecimentos, seriam ainda galardoados, no desporto adaptado, Leonel Alves da JUNI e Filipe Ferreira, treinador da Associação Juvenil de Karaté de Portugal (AJKP), com o Prémio de Dirigente Desportivo do Ano. Por sua vez, o Prémio Projeto Desportivo do Ano e o Prémio de Ética do Desporto distinguiriam respetivamente a equipa ERDAL e Nuno Mendes.
De permeio e na circunstância seria ainda apresentado um vídeo sobre o projeto intitulado “Desporto carbono zero”, promovido pela Câmara Municipal cujos objetivos se focalizam em reduzir a pegada de carbono através de ações desportivas.
Entrementes, na segunda parte da iniciativa seriam ainda entregues prémios e medalhas às cerca de três dezenas de equipas vimaranenses que se consagraram como vencedoras de títulos diversos nos campeonatos regionais, distritais, nacionais e internacionais, disputados em várias modalidades, situação que expressa claramente a sinergia desportiva da comunidade concelhia.

Universidade do Minho soma distinções
Equipa redatorial
A Universidade do Minho (UM) continua a somar distinções pelo seu trabalho investigativo.
Assim, desta feita, Rui Miguelote e Vanessa Silva, da Escola de Medicina, foram os vencedores do Prémio Clínico da Sociedade Portuguesa de Medicina de Reprodução, que reconhece o trabalho de ambos no âmbito das causas da disfunção ovulatória, que se manifesta nas mulheres jovens com ciclos menstruais irregulares, ou ausência de menstruação, que constituem a principal causa da infertilidade feminina.



Por sua vez, Hélder Sousa, investigador do Instituto para a Sustentabilidade e Inovação em Engenharia de Estruturas (ISISE) seria galardoado com o “Early Career Prize”, atribuído pela Associação Internacional de Pontes e Engenharia de Estruturas (IABSE), cujo prémio será entregue em Zurique (Suíça), em novembro próximo.
O docente em causa pertencente ao Departamento da Escola de Engenharia da UM, é ainda coordenador técnico de diversos projetos nacionais e internacionais no contexto da modelação de previsão e gestão de ativos rodoviários e ferroviários, bem como análises probabilísticas e numéricas de estruturas existentes, designadamente locais históricos e patrimoniais classificados pela UNESCO, nomeadamente o Castelo de Guimarães.

Maria José Fernandes, Medalha de Mérito Científico
Equipa redatorial
A vimaranense Maria José Fernandes (MJF), licenciada em Gestão e doutorada em Ciências Empresariais, é mais uma das nossas personalidades distinguidas com a Medalha de Mérito Científico, a maior distinção que o MCTES tem para homenagear individualidades, atribuída pela ex-Ministra da Ciência e Tecnologia do Ensino Superior, Elvira Fortunato. A entrega do Prémio decorreu durante a Sessão de Assinatura do contrato de cedência para as futuras instalações da FCT e apresentação do projeto de arquitetura, que se realizou no dia 23 de março do corrente ano, no Auditório do LNEC, em Lisboa.

A Presidente do IPCA, Maria José Fernandes, foi distinguida com a Medalha de Mérito Científico, atribuída pela Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato. Fonte - IPCA
A galardoada que se distinguiu pelo seu percurso de excelência pelo contributo ao ensino superior é, desde 2017, presidente do Instituto Politécnico do Cávado e Ave (IPCA) e líder do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos,29 funções que assumiu em abril de 2022 e que, pela primeira vez, tinha sido presidido por uma mulher.
A tomada de posse para o novo mandato teve lugar, em Barcelos, no dia 16 de abril do corrente ano e contou com a presença do Ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre.
29 O Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos é um órgão colegial, com várias competências, de representação conjunta dos estabelecimentos públicos de ensino superior politécnico. Trata-se de uma entidade de consulta do ministério com a tutela do ensino superior, sendo, igualmente, chamado a tomar posição junto de outros organismos.

No entanto, apesar da distinção individual, a agraciada entenderia que este reconhecimento é também um compromisso coletivo com toda a comunidade académica da instituição, extensível a todo o ensino politécnico, em especial ao professor João Carvalho, seu antecessor na presidência no IPCA.

Maria José Fernandes, presidente do Politécnico do Cávado e do Ave, iniciou, no passado dia 16 de abril, um novo mandato à frente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP), in O MINHO
Recorde-se que MJF tem sido uma intransigente ativista na defesa da autonomia do ensino superior, designadamente na revisão do Regime Jurídico das Instituições do Ensino Superior (RJIES), em particular no que concerne à ação social e financiamento, bem como na necessidade de se avançar na aplicação prática do decreto de abril de 2023, que permite a estes estabelecimentos de ensino superior o outorgamento do grau de doutor e a alteração da sua designação para Universidades Politécnicas.

Isabel Fernandes
Equipa redatorial
Merecidamente, após 41 anos de atividade profissional na função pública, ISABEL Maria FERNANDES transferiu-se para o clube dos aposentados, após 25 anos de prestimosos trabalhos nos museus vimaranenses como o Museu de Alberto Sampaio, entre 1999 e 2010, e os Paços dos Duques de Bragança e Castelo de Guimarães, a partir de 2012, dez anos dos quais exercidos nas funções de Diretora dos três emblemáticos espaços culturais e monumentais vimaranenses.
Uma atividade intensa que, além da gestão, investigação e organização de coleções museológicas, impulsionaria ainda a Associação dos Amiguinhos dos Paços e Castelo, o serviço educativo em prol da comunidade escolar e iniciativas inovadoras como “As Quintas-Feiras à Noite”…

In #MuseusemonumentosdePortugal
Porém, ao longo da sua carreira, iniciada como conservadora do Museu da Olaria em Barcelos (entre 1983 - 1995), esta licenciada em História pela Universidade do Porto (1981) e detentora do curso de Museus (1983) doutorou-se ainda em Idade Contemporânea na Universidade do Minho (2013) e participou ainda em vários outras funções no âmbito da sua área, designadamente integrando o Grupo de Projeto Museus do Futuro (2019-2020), como membro do Lab 2PT, da unidade I§D da Universidade do Minho e vicepresidente do ICOM Portugal.
Saudades à parte, desejamos, agora, que prossiga essas vias investigativas que tem levado a cabo no âmbito da cerâmica portuguesa, temáticas museológicas, gastronomia e histórica, como foi o caso da publicação “Doçaria de Guimarães – sua história”. Paralelamente, votos de boas viagens e convívio com os netos, como anseia, e a continuação de boa estada em Guimarães sua cidade de adoção e coração, bem próxima da sua terra portuense, numa reforma que desejamos ativa e que certa e brevemente a chamará de novo, em regime de part-time, no decurso dos 900 anos da Batalha de S. Mamede (1128-2028), Dia Um de Portugal.

Diogo Pereira, chefe do ano 2024 Equipa redatorial
O vimaranense Diogo Novais Pereira, chefe do restaurante Porinhos, em São Romão de Arões (Fafe), aberto pelos pais, Albertina e Joaquim, em 1992, é o Chefe do Ano 2024 da 35.ª edição do concurso nacional de cozinha para profissionais da restauração.

O jovem chefe de 33 anos apenas pertence a uma nova geração de profissionais da cozinha tradicional, que herda dos seus pais esta casa familiar com mais de três décadas de existência e serviços, após um estágio no DOP, no Porto, e no El Club Allard, em Madrid e vários outros trabalhos em restaurantes como a Casa Torta, em Guimarães, a Oficina, no Porto, bem como no exercício e funções de chefe executivo do “My Story Hotel Rossio”, em Lisboa.
Na final do concurso nacional, decorrido em Lamego, na qual o chefe vimaranense António Loureiro participou no júri, o chefe vimaranense conquistou o gosto dos jurados com um menu constituído por uma entrada de sopa de pescada e canelone de repolho e o prato vegetariano de arroz de forno de vitela e vazia de vaca, obviamente culminado e saboreado com uma sobremesa de tarte de maçã de Alcobaça assada.
Com mais este garfo de ouro, Guimarães continua no pódio, com os pés debaixo da mesa…

In memoriam de Maria Adelaide Moraes
Equipa redatorial
A conceituada escritora e investigadora histórica Maria Adelaide Moraes nasceu em 20 de junho de 1930 e faleceu em finais de 2023, com 93 anos, legando-nos uma preciosa obra no âmbito do património e história vimaranense.
Com efeito, ainda que nascida em Lisboa a 20 de junho de 1930, filha da Vimaranense Luísa Adelaide Cardoso de Macedo e Menezes e do diplomata brasileiro José Júlio Carvalho Pereira de Moraes, Maria Adelaide exerceu funções de funcionária no Museu Alberto Sampaio entre 1978 e 1994 e foi Académica Correspondente da Academia Portuguesa de História.

27/12/2023
Deste modo, vimaranense pelos laços maternos e vivências, a historiadora legou-nos uma obra significativa, da qual se destacam “Velhas Casas” – I a XI (1967-1990) e dois volumes de “Velhas Casas de Guimarães” (2001/2002), que se debruçam sobre antigas casas vimaranenses como a de Navarros de Andrade (atual Arquivo Municipal Alfredo Pimenta), a Casa do Arco na Rua de Santa Maria, a Casa e Quinta de Vila Flor ou a Casa de Sezim, entre várias outras como o Paço e Honra de Gominhães, a Casa do Cano do Salvador, a Casa de Aveleira, em Penselo, a Casa da Veiga e Pousada, em Azurém. E, ainda, a Casa de Laços e a Casa do Costeado, em Creixomil, esta última ligada ao misterioso assassínio da Menina do Costeado (Maria Júlia), que Maria Adelaide alude, transcrevendo a passagem testamenteira do barão e seu tio, que quis preservar a sua memória nesses jardins de buxo com canteiros desenhados ao gosto romântico:
“Conservem e venerem o pequeno jardim que se acha no quintal desta casa e isto em memória da nossa infeliz e sempre chorada sobrinha Maria Júlia que ali o tinha construído”
Porém, a sua produção é vasta e variada, quer em artigos, prefácios e especialmente livros de

investigação histórica. Cite-se “Eugénia da Cunha Peixota ou O Morgado do Parto Suposto” (1977) e “Guimarães, Terra de Santa Maria” (1978), e já na década de 80, “Capelas Vinculadas da Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira” (1981), “Gonçalo Lopes, Mestre de Pedraria” (1982), “Estes são os dias de Menezes de Guimarães” (1984) e “Desceram o monte, Atravessaram o mar” (1987). Por sua vez, na década de 90, publica “Raízes Vimaranenses de Alberto Sampaio” (1995), “Urraca, Dona Sancha, Dona Teresa, Doña Sancha” (1996) e ainda “Ao Redor de Nossa Senhora da Oliveira” (1998).
Entretanto, no dealbar do século, mais obras são editadas: “Genealogias Trágicas de um altar vimaranense” e “140 anos do Lar de Santa Estefânia”, ambos no ano 2000, bem como “Os Fidalgos do Toural” (2001), “Cabedais do Brasil em Guimarães” (2002) e “Palácio de Vila Flor” (2009). Um trabalho que fecharia com “A Dança das Gerações” (2014), “Nossa Senhora da Consolação e Santos Passos”, cuja 2.ª parte contaria com a parceria de José Couceiro da Costa e “Paço a passo … são 3 paços” (2019), que aborda a Quinta do Paço em S. Romão de Rendufe, o Paço de Aldão e o Paço de Nespereira.
Em conclusão, uma obra extensa e memorável que levaria ao reconhecimento público da autora, nomeadamente na homenagem prestada em 1991, pelo Arquivo Municipal Alfredo Pimenta e pela Câmara Municipal d Guimarães, bem como, no ano seguinte, com a atribuição da Medalha de Mérito Cultural em Ouro. Distinções a que adita o prémio do Instituto Português de Heráldica (2001) e o prémio Engenheiro Duarte do Amaral instituído pela Sociedade Martins Sarmento, bem como na participação ativa no associativismo como na Muralha, associação para a defesa do património vimaranense, da qual foi fundadora e assumiu a presidência da Assembleia Geral desde 1981 até 1991/1992.
In Memoriam aqui fica o nosso préstimo e reconhecimento, em nome de Guimarães que amou.


Memórias de um Homem Singular
Madalena Pinheiro
Ao recorrermos à memória temos a capacidade de conhecer, compreender e registar aqueles seres especiais que passam por nós, pela sua dimensão humana e cívica, perpetuando-os na linha do tempo.
O Dr. Fernando Conceição é um dos seres que fez história e deixou marcas indeléveis em prol desta cidade.
No passado mês de abril o Dr. Fernando Conceição deixou-nos, com um profundo pesar. Não serão referenciados todos os aspetos biográficos, uma vez que, aquando da celebração do seu centenário de nascimento, realizado no ano passado, as várias entidades públicas prestaram-lhe essa justa homenagem.
Natural de Braga, licenciado em Ciências Históricas e Filosóficas pela Universidade de Lisboa, em 1947, iniciou a sua carreira docente, como Professor do Serviço Provisório numa Escola Técnica, em Lisboa, e no ensino particular em Braga, no Colégio Sagrado Coração de Maria e no de Dom Diogo de Sousa. Após o estágio no Liceu Dom João III, em Coimbra, ficou efetivo no Liceu de Bragança, sendo convidado passado dois meses, para Diretor da Escola do Magistério Primário de Bragança, onde “tinha dois amores, a biblioteca e os miúdos das Escolas Anexas”, (disse-o com um sorriso a Dra. Manuela Alcântara). Depois, entre 1966 e 1974, ficou como Reitor, no Liceu Nacional de Guimarães, hoje designado Escola Secundária Martins Sarmento.
Ao longo dos anos, num espírito aberto e consciente, esteve sempre atento às necessidades culturais e educativas, projetando o seu saber para a comunidade. Tornou-se historiador da cidade; teve um papel político como Vereador da Cultura; foi Deputado da Assembleia Nacional, conseguindo que fosse criada a secção feminina, no Liceu Nacional de Guimarães; como Deputado à Assembleia da República, fez parte da comissão que elaborou a Lei de Bases do Sistema Educativo (1986); sócio inicial da Muralha, sócio fundador da Universidade Autodidata para a terceira idade e de outras associações, em que o património e a educação eram os temas dominantes das suas palestras e das suas intervenções, sublinhadas sempre pelo rigor e pela

grande capacidade de oratória.
Após esta breve introdução, ficamos a refletir: - o que está por trás da imagem do Dr. Conceição?
O que é que acontece quando se pesquisa a memória e se experimentam os pensamentos, as sensações da pessoa a partir do que vem de dentro?

À conversa com a Dra. Manuela Alcântara ficámos deliciados com a ternura demonstrada nos pequenos gestos e preocupações de um casamento feliz, como dizia o Dr. Conceição “ao lado de um grande homem está sempre uma grande mulher”.
Esta linha de pensamento levou-nos a contactar aqueles que conheceram e recordam o “Homem” que esteve sempre por trás da imagem que impunha.
Na homenagem realizada na Escola Secundária Martins Sarmento, tivemos a oportunidade de ouvir alguns testemunhos, entre os quais, o da Dra. Ana Maria Machado, pela sua vivência com o Dr. Conceição, como aluna e, mais tarde, como professora efetiva de Matemática da mesma Instituição.
Assim, realçamos algumas dessas passagens: “Considero o Dr. Conceição como o exemplo vivo da Pedagogia da Alma do Ensinar”; ”colocava o aluno e as suas aprendizagens no centro de todo o ato pedagógico”; “o ambiente na sala de aula era tranquilo e considerava com muita serenidade as brincadeiras, que por vezes tínhamos e até sentíamos que «achava alguma piada»”; ”a sua capacidade de comunicação, aliada à competência dos conteúdos da disciplina, tornava as aulas atraentes, de tal forma que nos deliciava numa disciplina cujos conceitos seriam, pela sua natureza, difíceis de serem compreendidos”; “dotado de uma extraordinária capacidade discursiva, não me recordo que tenha cedido à tentação de nos dar as aulas com carácter expositivo” e acrescenta, “pelo contrário, para além do diálogo que ia estabelecendo com os alunos, o quadro negro ia sendo preenchido com os conceitos abordados, numa interligação espantosa que tornava tudo mais simples mas, não obstante, rigoroso. À construção destas sínteses associava um grande domínio didático a um

profundo conhecimento científico, demonstrando uma mestria única”. E a Dra. Ana Maria Machado pergunta: “Conseguem imaginar o quanto este professor me marcou?”
Sobre o Dr. Conceição, enquanto colega e Presidente do Conselho Diretivo, testemunhou o seguinte: “era um intelectual reflexivo, um observador qualificado que tomava decisões no processo de formação e educação dos jovens. Fui chamada a trabalhar com o Dr. Conceição em tarefas que para além da função docente, eram importantes na dinâmica da Escola… Hoje, como profissional da educação, tenho consciência da dificuldade em encontrar, na mesma pessoa, todo este perfil de desempenho, todo este conjunto de características excecionais e intemporais” e terminou” São pessoas como o Dr. Conceição que dignificam a Escola, o Ensino e o Professor”.
Estas declarações sublinham a dedicação e a paixão do que o Dr. Fernando Conceição mais gostava de ser na vida, Professor.
Contactámos alunos, colegas e funcionários que acompanharam o Dr. Conceição, e todos deixaram o testemunho do “acolhimento diário a todo o corpo docente e comunidade escolar”. Como diz a Dona Maria Odete Pinto de Matos: “o Dr. Conceição quando entrava dava-nos um aperto de mão tão caloroso que nos motivava para o dia inteiro”; outros relatos: “uma preocupação sempre pedagógica para alunos e professores”; “a capacidade de incentivar e orientar cada docente para a vertente que melhor o definia”.
O Dr. Álvaro Neto também contribuiu entusiasticamente com o seu testemunho: “O Dr. Conceição era uma pessoa competente, exigente, mas muito humano (porque inteligente). Foi meu amigo. Que em muito contribuiu para a minha formação. No início do 7.º ano (ano letivo 66/67), fomos confrontados com uma professora de literatura que dava sinais de escassez de conhecimento da matéria. Fui expulso mais que uma vez e numa dessas vezes marcou-me falta disciplinar. De imediato, fui falar com o Dr. Conceição, contandolhe o que acabava de verificar e dando-lhe a minha versão do primeiro incidente com a professora. Ouviume atentamente e, no final, ordenou: “vais para a sala de aula, não crias mais problemas, estuda como entenderes, mas há uma coisa que não quero, nem aceitarei: ouvir falar mais de ti nem da professora. No final do ano apresentar-te-ás a exame”. Assim foi. No final do ano o processo não me foi instaurado”.
“No último almoço em que participei, há cerca de cinco anos, dirigi-me ao Dr. Conceição nestes termos: “Senhor Dr., depois de já lhe ter agradecido o muito que fez por mim, hoje quero dizer-lhe que o Senhor Dr. foi a primeira pessoa que me chamou a atenção para a necessidade de se fazer justiça para além do que parece”. Sorriu-me e respondeu: “não sabia que eras filósofo”. O Dr. Álvaro Neto fez referência à cedência

de uma sala para “um centro de Estudos Filosóficos constituído por Pita da Costa, Laranjeiro, Capela Dias, Costa Salgado, José Basílio Costa e por mim”. E terminou falando da sua nomeação para diretor do jornal “Alvorada”, destacando o apoio que o Dr. Conceição lhe deu, ao longo de dois anos, “o que alimentou o” bichinho” do Jornalismo que ainda me acompanha”.
Discretamente, o Dr. Conceição sabia estimular a consciência e a formação dos jovens e dos adultos para uma atitude de respeito crítico, sem desvalorizar a essência de cada um. Acreditou sempre no trabalho, na coragem e nos sonhos de todos os que passaram por si.
Assim, imersos nas imagens dos acontecimentos de um tempo que foi deslizando até hoje, redescobrimos na memória, marcas de uma vida de emoções - uma luz refletida até ao presente.
Ficamos gratos ao Dr. Conceição, um ser singular, pela sua grandeza e integridade demonstradas. E concluímos, citando o poema de Ricardo Reis, heterónimo de Fernando Pessoa
Para ser grande, sê inteiro: nada
Teu exagera ou exclui
Sê todo em cada coisa. Põe quanto és
No mínimo que fazes.
Assim em cada lago a lua toda
Brilha, porque alta vive.



Dar a conhecer o que em matéria de artes se vai fazendo na urbe, por parte dos nossos criativos, assim como recordar alguma da gente do nosso mundo artístico, é o cerne deste painel colorido para ler e fruir.
Nesta vertente, não esqueceremos ainda o 25 de Abril no mundo artístico e literário neste tempo de balanço entre o presente e o passado.
Outrossim, um espaço para evocar alguns que deixaram legado, como mestre Cargaleiro.
A fechar, o habitual Espaço Criativo que mantém a porta aberta a textos inéditos e criativos sacados das gavetas, sobre todo e qualquer tema de foro real ou imaginativo, mas que neste tempo de liberdade privilegia sobretudo os tempos de Abril























In Memoriam de Mestre Cargaleiro Equipa redatorial
Partiu mais um mestre da arte portuguesa do século XX, de nome Manuel Alves Cargaleiro (1927-2024). Como escreveria a Fundação Cargaleiro na sua mensagem publicada nas redes sociais “hoje o céu ganhou ainda mais azul”…

De facto, fica indelével para os vindouros a obra consagrada do pintor e ceramista, de cognome “artista alegre”, nesta hora de tristeza. Uma obra renovadora da nossa azulejaria e pintura de vitalidade contagiante, que soube integrar a tradição tradicional com a modernidade. Um legado que deixaria marcas um pouco por todo o lado, como na fachada da Igreja de Moscavide, ou em Fátima, na passagem para cerâmica das estações da Via Sacra do Santuário, pintadas por Lino António. Mas também no jardim Municipal de Almada e estações de metro do Colégio Militar, em Lisboa, ou em Paris, nos Champs Elysées-Clemenceau, entre muitos outros espaços públicos, que o Museu Cargaleiro, em Castelo Branco evidencia em diversas fases, tempos e espaços de produção. Espaços que se estendem a palcos internacionais, designadamente em Itália, no Museu Artístico Industrial de Cerâmica Manuel Cargaleiro, em Ravello, em cuja Praça de São Cosme e Damião encontramos o seu Painel da Amizade.
Com efeito, nascido em Chão das Servas, Vila Velha de Ródão, na Beira Baixa, em 16 de março de 1927, embora vivendo em Paris desde os seus 30 anos, cidade onde conviveria com nomes ilustres do seu tempo, entre os quais o casal Helena Vieira da Silva e Árpad Szenes, mestre Cargaleiro conjuga sagazmente nos seus

trabalhos de padrões geométricos e fragmentação da imagem, pelo contraste de cores vibrantes, numa fusão de influências mediterrânicas e evocação da azulejaria tradicional portuguesa, que, como diria Emília Ribeiro, diretora do Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado revela a “influência que se lhe reconhece desde cedo dos trabalhos de patchwork, as mantas de retalho da Beira, a par, obviamente, da azulejaria portuguesa a que tanto se dedicou e dignificou”. Uma matriz a que não será também alheia a sua mãe, artesã de mantas de retalhos beirã e a aprendizagem da arte de olaria no atelier de José Trindade e na Fábrica de Sant’Anna, bem como nos estudos com mestres como Querubim Lapa e António Pedro. E, igualmente, o porfiado trabalho que mantinha num “cantinho” da fábrica-atelier de azulejo português Viúva Lamego, que reconhecidamente na hora de pesar expressaria o seu lamento pela perda do seu “operário mais antigo”. Obviamente um trabalho que, em paralelo e fundamento no “saber de experiência feito”, conjugaria sapientemente com a sua formação académica na Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, na qual ingressaria, em 1949.
Como é óbvio e em consequência do seu trabalho, Cargaleiro receberia inúmeros prémios e condecorações. Com efeito, ainda na década 50, ser-lhe-ia atribuído o Prémio Nacional de Almeida e o diploma de honra da Academia Internacional de Cerâmica de Cannes, em França, quando era já professor de Cerâmica da Escola de Artes Decorativas António Arroio. Seria também neste período, em especial após a sua participação no “I Salão de Arte Abstrata”, em Lisboa, no ano de 1954, que o seu trabalho chamaria a atenção de Helena Vieira da Silva e do seu marido, que seriam determinantes para mudar bagagens para Paris, em 1957. Todavia, neste mesmo ano, receberia também uma bolsa do Instituto de Alta Cultura, que o levaria a dividir a sua vida entre Florença e Roma e a cidade parisiense, onde se acabaria por instalar e abrir um atelier. Quanto a condecorações, destacam-se a Ordem Militar de Sant’Iago e Espada em préstimo pela sua contribuição artística, a que acrescenta a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique e a Medalha Grand Vermeil, a mais alta condecoração da capital francesa. Recentemente, em 2022, seria ainda distinguido com o doutoramento honoris causa pela Universidade da Beira Interior.
Em súmula, um artista cujas composições são vistas como celebrações da vida e da natureza, que captam a essência da Europa meridional, que Álvaro Siza Vieira considera serem “uma obra que traz uma alegria permanente de viver” em que se “alia uma grande atenção à história, à ideia de continuidade, às raízes de qualquer forma de arte”.


Cinquenta anos passaram
Manuel Branco de Matos
Cinquenta anos passaram sobre o dia feliz que encheu de gozo e de ilusão o povo português, porque à Nação voltara a natural democracia.
Vermelho, o cravo foi uma alergia que a muitos provocou irritação: há gente que não usa água e sabão por não querer estragar a porcaria.
Cinquenta anos de raiva e de esconjuro para alguns que não sabem conviver com quem já no presente vê futuro.
Cinquenta anos de fé a reviver a vida em mutação – di-lo Epicuro: há no viver o eterno renascer.
Dizem que em Singapura
Manuel Branco de Matos
Dizem que em Singapura ao cair da tarde de púrpura se vestem cidades e gentes de linho se cobrem lúbricas luzentes as deusas que ao passarem tudo estala e arde.

Que os prédios esguios à luz do arrebol se cobrem de açafrão e que nos povoados há rios de alecrim nos chãos almiscarados juncados de alfazema que se depura ao sol.
Dizem que em Singapura há misteriosas grutas e adejam pelos céus milhões de borboletas asfódelos campestres namoram as violetas e o hálito inebria a voz das prostitutas.
Que amoras maduras cerejas uma a uma se comem por ardil nos lábios das donzelas e há deusas que namoram lúbricas e belas os homens que embriagam só de mel e espuma.
Dizem que em Singapura as estrelas cadentes trazem de altos céus benesses e mudanças e nascem colibris nos olhos das crianças que vão morrer nos seios das adolescentes.
Que as águas das fontes renascem mais puras ao sol que se levanta na ponta dos invernos que trazem às cidades raios de oiro ternos e que os sábios sabem a tâmaras maduras.
Dizem que em Singapura à tarde à meia-luz se acende a flor-de-lis e que em orgias belas lascivas deusas lado-a-lado coas estrelas convivem com os deuses e com homens nus.
Que nessas tardes raras sem leis nem complexos as deusas de acerados seios sápidos túmidos por longas madrugadas com mil beijos húmidos afogam um por um no resplendor dos sexos


Diz-te respeito
Damianus Paskalis Lelo
Diz-me se o tecido existencial
Não é um cordão relacional
Diz-me se a morte do outro,
Uma parte de ti,
Não te toca a ti
Estás morto
Se não sabes sentir o cheiro da ausência
De quem faz parte de ti
Diz-me se tu e eu não somos interdependentes
Tu e outro
E eu e outro e tu
Se tudo o que te diz respeito
Não parte o teu coração
Não rasga o teu peito
Então, diz-me
De que é feito o teu rosto
A respeito do outro?
Quem és?
Para quem és?
Angelino Pereira


Tantas vezes me pergunto: porque existo?
Será que alguém sabe que existo?
Sei que me chamam, não pelo nome, mas pelo número fiscal que me atribuíram
E tantas vezes me notificam para pagar por existir...
Pagar por trabalhar e depois voltam a taxar por ter trabalhado ainda mais porque não consigo ganhar o que preciso para sustentar os que dependem de mim.
E voltam a notificar-me sempre que sabem que poupei do trabalho que já paguei…
Tantas vezes me pergunto: porque existo?
Todavia todos sabem que tenho direitos inscritos na Constituição: direito ao sustento, à habitação, à saúde, à educação, mas não tenho quem cuide dos meus filhos nas horas que tenho de trabalhar
Mas será que sabem que eu existo, como gente, como pessoa, ou apenas um número no meio de tantos milhões sempre sacrificados e ignorados?
Tantas vezes me pergunto: porque existo?
Para sofrer e viver na indiferença da minha existência?
Levanto-me de madrugada e fico à espera na porta de um centro de saúde
Preciso de ajuda para continuar a trabalhar e contribuir para as despesas do Estado.
Mas o serviço que procuro está doente. Tudo está doente neste País!
Tantas vezes me pergunto: porque existo?
O ensino não forma gente boa e a vida perdoa gente mal-educada
E as gerações da mediocridade reinam sem forma e à deriva
E não sabemos como encontrar quem se consiga encontrar firme e seguro
E vemos que de tudo isto resulta em instituições sem carácter e sem justiça
Governos que ignoram as pessoas para evidenciar instituições criadas com fundos perdidos e sacos sem fundo onde grandes remessas se escapam num mar vazio de responsabilidades onde se esgotam milhares de milhões empobrecendo um povo que existe sem existir…
Por isso, tantas vezes me pergunto: porque existo?
E vejo idosos, a quem chamam velhos, desprotegidos, desrespeitados, humilhados e explorados roubados sem merecimento da obra que realizaram
E neste tormento dos que sofrem sem saberem se existem

Tantas vezes me pergunto: porque existo?
Quando passo à noite nas grandes cidades, que são centros de grandes decisões e vejo milhares de pessoas sem abrigo, vagueando como pombos vadios e sobrevivendo sem dignidade
Tantas vezes me pergunto: porque existo?
Se para ver tanta injustiça, tanta ganância tanta maldada, inveja e desumanidade milhões de pessoas têm dúvidas da sua existência
Por isso, tantas vezes me pergunto: porque existo?
O 25 DE ABRIL
Álvaro Nunes


Hoje é o dia da criação dos dias
De raiar auroras prodigiosas
De rir e chorar alegrias
Acender tochas luminosas
Hoje é o dia dos cravos e rosas
Com Abril a florir em Maio
Abrir avenidas esperançosas
Repartir o pão do samagaio
25 de Abril da democracia, desenvolvimento e liberdade
Fim da guerra e descolonização
Teu dia no calendário propicia
Novas vontades e igualdade
Novas caravelas da nação…

Álvaro Nunes
Não há medida velha ou medida nova.
À medida de teu versejar perfeito,
Nem engenho que a epopeia prova
No estudo e saber da experiência feito
Não há Ilha de Amores ou tenças
Que premeiem o teu doce encanto
Nem velhos do Restelo que convenças
Que só na ousadia cabe teu canto …
Não há Tágides, estro ou musa,
Nem seta de amor certeiro
Que incendeie tua alma lusa!
Numa mão a pena noutra a espada
Tu foste ao leme e na gávea gajeiro,
O poeta da nossa pátria amada…
A poesia de Abril
Maria Teresa Portal


Quando sob pressão
A imaginação
Toma o freio nos dentes
E parte desembestada
Comanda a mão
Que não se atreve a dizer não
A folha aparece escrevinhada
Numa caligrafia apressada
Para acompanhar a criatividade
Tem de escrever velozmente
E às vezes até inconscientemente
Muitas ilegivelmente
Depois satisfeita com a atividade
A exigente criatividade adormece
E ela para e descansa
Até que a imaginação febril
A leve numa outra dança
E de novo texto aparece o perfil
Aquele é uma poesia de abril
Fala da revolução sem tiros
A criação de partidos
A liberdade conquistada
A alma renovada
O direito de saber os porquês
O orgulho de ser Português

ABRIL
Paulo César Gonçalves

Abril tem olhos grandes e braços vermelhos e generosos: Abril dá cravos às filhas e às pessoas que passam na rua.
Abril é a revolução pelo Amor e pela liberdade: Abril é a negação do que o deputado municipal do CDS está a debitar em palco, no Teatro Jordão, mas também a sua aceitação, porque foi para isto que também se fez o 25 de Abril.
Abril é um peito sem fim e uma greve à inveja.
Abril é aquela Senhora que abandonou o lenço do luto para ir votar nas primeiras eleições Livres.

Abril não é Novembro (e estou farto desta confusão de datas: vão lá ler o "Quando Portugal ardeu", do Miguel Carvalho).
Abril é Abril e eu até faço anos em Abril. Eu nasci livre (e nu).
Quero falecer livre (e, se possível, sem estar nu).
Abril sempre. Sempre. Sempre.


Poetisa d’Arosa, Amélia Fernandes
O meu mar és tu!
És tu o mar em que navego
Em asas da liberdade
Cravos vermelhos florindo
Em momentos de saudade…
Fez-se o 25 de Abril
Em plena primavera
Num longo amanhecer
De plenas madrugadas
Alvoradas renascendo
Com os cravos a florir
Pelos canos dos canhões
Vermelhos da cor da vida
Chorando de emoções
O meu mar és tu!
Liberdade, liberdade
Grita o Povo em euforia
Abril de 74
Deu vida a um novo dia
E o povo anda contente
E diz não à repressão
Vozes da cor do tempo
Do tempo de dizer não
O meu mar és tu!
Em que me rendo e acredito
Liberdade vai crescendo
Num dia que virou mito.
O meu mar és tu!
O mar, ao qual eu me entrego
Segura de um tempo novo
As ondas do mar me levam
Já mais o irei perdendo
Em Abril renasceu
Igualdade para todos
Fez-se o tempo, que é meu.
Sorrindo, Abril amanheceu
Cravos vermelhos, florindo
Num corpo cansado caído
Cantam as ceifeiras no campo
No lar o pão já cresceu
Ceram-se punhos alegres
Viva a liberdade
O meu mar és tu!
Tu que me deste a vitória
De ser livre e cantar
De plena felicidade
Calaram-se os canhões
Romperam-se as algemas
Portas abertas de par em par
Longos braços se movendo
De plena felicidade



[Entrei numa clareira de surpresa]
Carlos Poças Falcão
Entrei numa clareira de surpresa e por instantes vi o que é viver num modo sem palavras, puro ser, ali, quieto, denso, a correnteza
passando como luz sobre leveza, embora em suspensão, a entretecer um movimento mínimo, a tender para o surgir de um deus da natureza.
Grande silêncio. Apenas um momento e cuido pertencer a este mundo silencioso e próximo e sagrado.

[Talvez um anjo venha pelo véu]
Carlos Poças Falcão
Talvez um anjo venha pelo véu a visitar a sombra, os sofrimentos os corpos remexidos, os tormentos nos confundidos tempos sob o céu.
Qual um mergulhador, talvez o seu descer sustenha ainda por momentos a luz para sondar os turbamentos que cegam os cardumes pelo breu.
Talvez possa conter ainda o desejo e desça com espanto ao mal humano ao fundo do seu grito que não cessa.
Então não pode mais. E num ensejo depressa ascende o anjo ao seu arcano a respirar silêncio. E não regressa.


Maçã do corpo
Teresa Macedo
É carnuda a maçã do corpo, insubmissa
Na crença, fêmea fértil
Na busca da semente guardada no olhar
Dos poemas múltiplos que rangem Certa ausência, certo sonho tido
Na noite ébria. Se eu te disser que as bocas
Estonteadas de beijos metafísicos
Foram guardiãs da rotação futura
Que o tempo trará, acredita; estavam
Comovidas pela luz e cavavam galerias
Na terra trémula.
No último instante, foi estrela ressurgida
A polpa do corpo saciado.
Carlindo Ribeiro


Ai Jesus Nossa Senhora
Que se passou em Lisboa
Logo ao despontar d’aurora
No Camões na Madragoa
E nas ruas mar de gente
Muitos jovens aos milhares
Num movimento crescente
Saudando os militares
Chamou-se de Povo Unido
Até ali amordaçado
Que nunca será vencido
Nem voltará ao passado
Todo o lado é multidão
Em passada bem vibrante
Pra Caxias à prisão
Libertar o militante
Liberdade liberdade
Mãos erguidas mãos fechadas
Hoje fala-se à vontade
Foram-se as botas cardadas
Já não vêm caixas de pinho
Do outro lado do mar
Desta vez o soldadinho
Vai às terras ensinar

Que o MFA tem programa
De Abril, só Capitães
O Vasco não é da Gama
Vai prà escola o Magalhães!
Tinha eu meus vinte anos
Quando tudo se passou
Angola pròs angolanos
Portugal então cresceu
Parco Império afinal
Canta o cantor noutro tom
Retornou a Portugal
O primo o tio o irmão
Tantas f’ridas a tratar
De heróis desconhecidos
Em seus olhos vê-se um mar
Tantos sonhos destruídos
Mas a língua portuguesa
Dos egrégios avós
Tem sotaques de beleza
É Padrão de viva voz
Frágil é a liberdade.
Tem inimigos à espreita.
Prometem nova verdade,
Mas o povo não aceita
Miguel do Sul


Quando a aurora chegou
Naquela madrugada linda
Vi centenas, milhares de braços no ar
Com alegrias e emoções a esvoaçar.
Quando a aurora chegou
Naquela madrugada linda
Vivi alegrias que partilhei e chorei
Ao ver os cravos vermelhos que pintavam a PAZ….
Anos se passaram inconsistentes
E as sementes da Liberdade foram vivificando coloridas.
A Democracia aconteceu farta,
Às vezes feia e abusada com oportunidades para todos
E oportunistas inesperados.
Entretanto já cansada,
A Democracia desgastada, corrompia e, corrompida….
Os cães invejosos e medíocres ladravam….
A Educação doente rastejava
A Habitação urgente não existia…
A Saúde conquistada era precária…
A Justiça urgente incomodava…
O Pão era exíguo para tantos esfomeados….
A PAZ sentia-se periclitante….
Passaram-se 50 anos de sonho
Meio século de desencontros
Vergonhas para lamentar
Governos sem governar, mas… a Democracia venceu!!!....
Valeu a pena???...

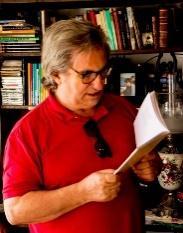
Firmino Mendes
A casa lugar intenso, umbigo do mundo, onde a avó navega entre animais, terra e vegetais.
Tudo ali sossega e adormece: o cântaro de barro e a sua porosidade, a humidade transparente da argila humedecida, o ninho dos gatos, o berço permanente.
A casa: eu sei, a casa era o centro do mundo e agora está vazia, as telhas caídas, as traves apodrecidas, a cozinha negra e fria. Eu sei: tudo agora é memória, espaço antigo, infância parada numa imagem que já foi de riso e movimento e agora é quase nada.
Lá fora, também é casa: o quintal aberto às aves e aos animais perdidos. Ali, aconteciam as estações, as primaveras cantantes, os invernos de terra mansa, gerando, adormecidos.
Assim, a descoberta: a casa tem dentro e fora, sol e nuvens, chuva e vento e, sobretudo, tem aquelas qualidades que esquecemos: sangue, sentimento, relâmpagos, luminescências e o silêncio todo do mundo, agora em movimento.
Em Lisboa
Firmino Mendes
Estamos todos sentados em Lisboa, olhando o Tejo. Estamos entre colunas, calculando a velocidade das águas.
Estamos sentados em posição de flor de lótus prevendo o futuro.
Estamos sós, na praça do comércio, secando as feridas da guerra 2011-2015, quando fomos esmagados por um exército governante, obediente e submisso.
Nem perdoamos nem esquecemos - secamos as lágrimas e as penas.
Estamos cansados, muito cansados, com a respiração palpitante, olhando o rio com seus navios e cruzeiros, nesta recuperação apressada ouvindo o coração.



Causas maiores se opuseram a coisas menores
Sónia Marta Silva
Os laços, Os traços,
A cor do cravo,
A cor da bandeira, Cor de um coração
Sem eira nem beira.
A cor da liberdade,
O risco da verdade,
A luta pela vida À minha maneira.
Uma flor desbotada, Uma alma desabitada,
A dor pra nascer Pra um dia morrer...
...e não saber nada...

Liberdade sem cancelas
Sónia Marta Silva
Liberdade sem cancelas
Sem muros ou portões
Saudades do luar nas janelas
Onde contava estrelas
E fixava constelações
Saudade do que não fui
Dessa cortina inexistente
Entre o passado e o presente
Num futuro descontente
Onde a liberdade se dilui.


Cair e a Revolução rui galiano
Certo indivíduo caía. Caiu primeira, caiu segunda, caiu terceira vez. E continuou. No entanto, houve uma altura em que iniciou a cair. Desde então, caía com frequência. Habituou-se a cair e, para ele, era normal cair. Um dia, de tanto cair, ultrapassou a linha de metade entre estar em pé ou caído. Foi aí que se fez História. A partir desse momento o acontecimento já não era cair, mas, antes, estar de pé. Enquanto o mundo se vê de cima e em pé, o acontecimento é cair, mas quando se está em baixo, depois de cair, tudo está no lugar da luz ou sombra, tudo se levanta diante, a perspetiva é a que nos dá dimensão. Se não soubermos ler nas diferentes perspectivas, então, que caiamos as vezes necessárias até sabermos ler a realidade a partir de baixo. Toda a Revolução nasce da perspectiva de baixo. Não há Revoluções da perspectiva de cima. No entanto, uma Revolução só está completa quando sobe até à máxima perspectiva de cima, do alto. Ao contrário, é desolador ver uma Revolução caída. É obrigação do Homem procurar por todos os meios manter a Revolução de pé, nem que, para isso, seja necessário arranjar um urso ou um guronsan. Tudo é viagem, até o bilhete, e não existe o contrário de viagem, porque até estar imobilizado é a viagem zero. Até o comboio pára na Estação e, isso, é viagem. Eu parei na Estação, mas a viagem não parou em mim.
Um amigo maquinista da CP abeirou-se de mim, em S. Bento, e questionou-me sobre o que eu escrevia no caderno. Disse-lhe que escrevia sobre como fazer uma Revolução? Ele respondeu, acto contínuo: Sabes como se faz uma Revolução? Sem outras palavras e de imediato: uma Revolução faz-se com uma Coca-Cola, meio bagaço, um ben-u-ron, para a eventualidade de aparecer uma dor de cabeça, dez miligramas de guronsan e uma Mini, para estalar no fim… Depois, disse-me para não deixar passar a hora do comboio partir e dirigiu-se para a cabine de pilotagem. Entrei no comboio e um miúdo pequeno com ar de ser pouco cuidado, com uma cicatriz enorme na cabeça, de orelha a orelha, havia nascido cego, mas que reganhara a visão numa operação, questionou-me sobre o que eu fazia a escrever no caderno? Respondi que era uma Revolução. Nessa altura, ele fixou-me nos olhos por dois segundos e ar perplexo, para, de seguida disparar: para essa história, já puseste aquela parte em que a bruxa dá uma bebida à mãe da criança e ela se transforma num

urso? Disse-lhe que ainda não tinha chegado a essa parte e ele completou dizendo que era para ter um final feliz. Revolução, corrupção… Depois o comboio parou numa Estação e, este, saiu a correr pegando numa bicicleta deitada no hall. Ele era da Revolução e veio trazer a sua mensagem, não via e passou a ver, enquanto nenhuma história tem final feliz sem a magia da transformação entre reinos. O comboio apitou e seguiu. E eu não tenho o ben-u-ron. Uma fotocópia numa janela das instalações da Estação, dizia: passa-se. E passouse. Isso é viagem, o que não passa é a dor de cabeça do maquinista sem ben-u-ron. Ora como se vai fazer, então, a Revolução? Sem maquinista? Não. Atenção que se trata de meio bagaço, não confundir com um bagaço, preveniu, assertivamente, o maquinista. E deve cuidar-se desta Revolução do maquinista, com fidelidade. Não confundir fidelidade com a idade do Fidel. Não confundir certo indivíduo com indivíduo certo. A Revolução é, afinal, a dança da confiança que vai desde em pé até ao chão. E enquanto se espera e se lê o traço, cresce o abraço.


Alma Lusitana: Duelo Imortal
Maria Teresa Portal Oliveira
Um cristal não teria um som mais puro, límpido e transparente. O riso contagiante prometia boa disposição e acolhimento caloroso. O rosto moreno deixava transparecer o que lhe ia na alma: alegria, cumprimento do dever, satisfação pessoal. Só os olhos negros amendoados sobressaíam no rosto resplandecente e lembravam lendas de mouras encantadas e princesas das arábias.
A luta continuaria sem quartel até apenas restar um só, invencível, vencedor. O campeonato de esgrima realizava-se algures, num tempo indeterminado, por tempo indefinido, com concorrentes de diversa origem e índole, escolha de cada nação.
A jovem de rosto trigueiro dera nas vistas por ser a mais moça e por ser mulher. Poucas nações se representavam no feminino, mas ela recebera a confiança dos Anciãos e dos Grandes do seu país.
Com uma aparência frágil, muitos haviam já caído sob o poder da sua espada, a Lusitana. As regras estipulavam que o primeiro a ser ferido tinha de largar a espada. O combate, corpo a corpo, desenrolava-se na arena com múltiplos combates simultâneos, e as eliminatórias decorriam havia três dias, que não correspondiam às setenta e duas horas terrestres. Eram como que uma paragem suspensa no tempo.
Com uma lâmina estreita e afiada, Lusitana não era uma espada vulgar.
Temperada na forja de um grande ferreiro, feiticeiro de reconhecido mérito, possuía qualidades de que só a alma lusitana podia desfrutar. Na empunhadura, uns estranhos símbolos gravados. O escudo português. Porém, quem soubesse o seu significado, poderia detetar cinco pontos (as chagas de Cristo que Afonso Henriques viu antes da Batalha de Ourique) em cinco escudetes (os cinco reis mouros que este primeiro rei vencera), rodeados por sete castelos (as vitórias dos portugueses sobre os seus inimigos e também o símbolo do Reino do Algarve) e a esfera armilar (o mundo português e as descobertas feitas por Portugal). Na lâmina, em aço temperado, com proveniência desconhecida, qualquer um se via como num espelho.
Cheia de simbolismo, Lusitana era uma arma digna de ser manuseada por tal campeã.
Não era a única da sua espécie. Havia mais algumas, que tinham pelejado na mão de grandes heróis:

Afonso Henriques, Luís de Camões, Nuno Álvares Pereira, João I, Vasco da Gama, Álvares Cabral, … só para citar alguns.
─ Quel est ton secret? ─ perguntara-lhe o jovem francês, derrotado nas eliminatórias.
─ A alma lusitana e o meu povo ─ respondeu-lhe ela, a grande lutadora, cujo nome era Alma, lançandolhe um olhar acutilante.
O jovem lembrava-se das Invasões Francesas e de como aquele povo sofrera sem ser subjugado. Arranjara forças para resistir a Napoleão. Tinham ficado algumas feridas dessa altura, mas o orgulho, esse ficara incólume, invencível.
─ Your spade’s Lusitana. What does it mean? – perguntou-lhe o representante inglês, depois de ter perdido o combate do alto do seu metro e noventa. Um gigante! Uma luta entre Golias e Davi.
─ O que disse. O meu poder vem-me da alma lusitana e do povo a que pertenço. ─ respondeu, lembrando-se do Tratado de Windsor, a mais velha aliança diplomática do mundo entre Portugal e Inglaterra. Um tratado que a maior parte das vezes apenas o fora no papel ou para conveniência dos outros, não dos portugueses.
E, altiva, sem mais delongas, virou-lhe as costas. O orgulho de ser Portuguesa, de falar essa língua quase milenar, vinha de longe.
Esbelta e serena, a jovem prosseguia os combates, mantendo uma calma olímpica.
Ao grito «Por S. Jorge!» vencera o representante espanhol, um bom espadachim, que não estava à sua altura. E relembrou que fora esse o grito proferido por D. João I e o grande Condestável D. Nuno Álvares Pereira, na Batalha de Aljubarrota, para comandarem e derrotarem os invasores vindos de Castela e mantendo a independência do reino.
─ Was hast du gesagt? ─ perguntou o alemão, um deus godo, bastante narcisista, pois que se olhava em todos os espelhos. Aquele padecia da maleita da superioridade da raça ariana. Um mal do passado recente do século XX. Gostava dos homens morenos e cinzelados pelo ar das montanhas e pela maresia do seu país: cheiravam a sol e sabiam a mar.
─ Invoquei o Santo Protetor dos Portugueses em tantas batalhas e durante séculos. Talvez S. Jorge apareça montado no seu cavalo e me ajude a vencer o torneio, a ferro e fogo. Este dragão só eu o posso vencer, mas conto com a sua ajuda e a de todos os heróis do meu povo que me insuflam a vontade de vencer.
E Alma, a esgrimista que representava Portugal, virou costas enquanto lhe vinha à mente a neutralidade

da nação, durante a 2.ª Guerra Mundial e a desse extraordinário homem Aristides de Sousa Mendes que, enquanto Cônsul de Portugal em Bordeús, concedera vistos de entrada em Portugal a refugiados que fugiam da Alemanha e não só. Regressado a Portugal, morrera na miséria, tal como o ilustre poeta que cantara a Alma Lusitana no seu poema imemorial. Lamentavelmente, o seu país nem sempre dava valor aos seus heróis. E fora Israel o primeiro país a reconhecer o ato heroico e humanitário do diplomata português, atribuindo-lhe uma medalha a título póstumo e plantando uma árvore em sua memória na Avenida dos Justos, no complexo Yad Vashem em Jerusalém, o memorial aos mártires e heróis do Holocausto.
E, por momentos, ficou pensativa, testa franzida e uma lágrima ao canto do olho. Tantos feitos e tantos atos corajosos praticados pelo seu povo forjado a sangue, suor e lágrimas. Tantos heróis sem nome jaziam espalhados pelos quatro cantos do mundo sem sequer terem tido direito a uma humilde sepultura. Carne pútrida lançada para a fogueira ou alimento de aves de rapina ou de animais selvagens. Tantos pais e tantas mães a chorarem os filhos que não regressavam e dos quais desconheciam o destino - A morte? A prisão? O desterro? O abandono em terras estranhas e inóspitas?
O representante do Brasil foi o mais difícil de vencer, talvez porque a língua era a mesma com sabores e tonalidades diferentes. O tom de pele do concorrente também era o resultado da miscigenação das raças e a sua preparação fora semelhante à dela. E Alma relembrou o grito do Ipiranga, o acontecimento ocorrido a 7 de setembro de 1822 que simbolizava a independência do Brasil. Nas margens do Rio Ipiranga, o príncipe português D. Pedro (o futuro D. Pedro IV), regente do Brasil, declarou o território definitivamente separado do pequeno país europeu, bradando «Independência ou morte!». E a 1 de dezembro do ano seguinte, D. Pedro fora coroado imperador do Brasil.
Quando acabou a peleja, ambos suados e exaustos, Alma saudou o outro concorrente:
─ Salve, irmão!
O júri observava a jovem estupefacto. A saudação latina («Passe bem») fora ainda mais surpreendente. Onde fora ela buscar a sua força, a sua agilidade, a sua perícia, a sua cultura?
─ Como é possível que esse pequeno país, que albergou o aguerrido povo lusitano que lhe deu a alma, tenha escolhido uma mulher para o representar? ─ perguntava-se o presidente do júri, um respeitável ancião com umas centenas de anos.
Fechando os olhos, pôs-se a perscrutar a mente dos espadachins e a resposta fê-lo levantar-se. A maioria dos países escolhera um dos seus heróis do passado ou do presente para defender as suas cores; contudo,

Portugal fizera-se representar por Alma que encarnava a sua Língua e o seu país quase milenares.
A Língua Portuguesa florescera no século XIII, enquanto língua autóctone, e tornara-se a língua oficial do pequeno país criado havia pouco mais de um século, que começara a aparecer nos textos jurídicos, nas leis nessa altura transcritas, e, um pouquinho mais tarde, nos textos literários. E tudo graças ao Rei Poeta, a esse D. Dinis que tanto cantara a alma feminina nas suas cantigas de amigo e de amor.
Ao relembrar o rei, não pôde deixar de refletir que os portugueses guerreavam os ditadores com flores, neste caso rosas. Não fora essa santa rainha, Isabel, que, seguindo o espírito missionário de «praticar o bem sem olhar a quem», enfrentara o seu marido dizendo-lhe que levava no regaço rosas em vez de pão? Como derrotar alguém que sobrevivera às maiores calamidades e chegara à atualidade com a glória que a rodeava: a sexta língua mais falada no planeta, uma língua falada na ONU (sendo seu secretário-geral um português), e nas sete partidas do mundo?
Admirado, Solomon, assim se chamava o ancião, continuava a fitar Alma, que deslizava impassível pela arena onde se desenrolavam os combates e combatia cada Mostrengo que se apresentava.
A moça era realmente um caso único e notável. E ele já vira muitos torneios, muitos campeonatos. Um tão hábil manejo da espada, em Artes Marciais, só podia significar que a jovem era igualmente desenvolvida espiritualmente. Claro, se representava um povo ela era a essência dessa mesma gente indomável e bravia.
E Solomon reconhecia que, ao longo dos séculos, continuara a ouvir falar muito dos portugueses, principalmente durante os séculos XV e XVI, em que haviam dado novos mundos ao mundo, mas continuavam a ser uma raça que se impunha. E, de cara pensativa, mas solene, viu outra revolução, já nos tempos modernos, em que os Capitães de Abril haviam acedido ao comando do país, combatendo o ditador com cravos nas armas, sem uma única morte. Combater a ditadura com cravos, tal como já o fizera com rosas, só podia mesmo ser uma característica daquele pequeno país, um jardim à beira-mar plantado.


Também a saudade exprimia o sentir diferenciado e inigualável dessa gente que a cantava de uma forma também ela de sua pertença - o fado.
Os combates prolongaram-se por mais alguns dias… lá nos confins do mundo, onde a eternidade começa e o mundo acaba. Não se sabia quando tinham começado; o seu início perdia-se no infinito dos tempos.
Um campeonato que talvez nunca termine, porque se prolonga no tempo, recomeçando mal se encontra um vencedor, com o propósito de unir as nações, de lhes incutir o gosto pelo planeta que habitam, de lhes dar a conhecer um pouco da eternidade.
Neste século XXI, as representações multiplicavam-se com a enorme quantidade de países que tinham surgido depois da Queda do Muro de Berlim e da destruição do Bloco de Leste. Os combates tinham aumentado exponencialmente e tornavam-se muito difíceis, quando se digladiavam países que estavam em guerra na Terra. A polémica muçulmana nunca fora resolvida nem havia interesse político em que o fosse, a palestiniana não apresentava resolução visível, a dos países asiáticos vibrava desafinadamente como num violino com cordas partidas ou a que faltavam cordas. De África era melhor nem falar. Aí grassavam as guerras, a fome, a seca, as maiores desigualdades sociais e mantinham-se tradições absolutamente desumanas.
Quando é que o homem ganharia juízo? Já tinha lidado com duas guerras mundiais e agora com todas estas desavenças que opunham quase sempre os mesmos intervenientes que não procuravam soluções, apenas exigiam que se aplicasse, egoisticamente, a sua. E os intervenientes não declarados que estavam por trás de tanta luta fratricida e por tanto genocídio.
Solomon tinha a sua tarefa cada vez mais dificultada. Como se não bastassem as guerras, havia agora uma outra que se recusavam a guerrear, a luta pela salvação do próprio planeta que dava sinais de estar exausto e à beira da implosão. E faziam-se as reuniões dos grandes que comandavam o destino da Terra e todos eles se recusavam a tomar medidas. O egoísmo e a economia impunham-se aos outros valores que não eram reconhecidos nem mencionados. Não havia dignidade e as palavras solidariedade e fraternidade tinham desaparecido da face da Terra, bem como a caridade. Pois se deixavam que povos inteiros vivessem na miséria e estivessem a morrer à fome, como é que se importariam com o futuro das gerações vindouras? Eles que se arranjassem, que lutassem depois… quando já fosse demasiado tarde.
Tendo tantos séculos de idade, Solomon nunca sentira tanto o seu peso como neste torneio. Estava também ele cansado de ver a luta inglória que a Terra travava sem ninguém a ouvir. O homem avançava um pequeno passo e recuava dois.

E neste início do século XXI, para aumentar as dificuldades, fruto de todo o mal que praticava ao planeta, aparecera mais uma pandemia, a Covid-19, que ameaçava matar milhões como acontecera há um século com a gripe espanhola e, na Idade Média, com a peste.
Se não eram as guerras e a inconsciência do homem eram as doenças. O Senhor tornara-o um animal diferente ao dar-lhe a capacidade de pensar e de livre arbítrio. Para quê?
E Solomon pensou que aquele talvez fosse o último torneio a realizar-se. Ele é que sabia, mas não se admiraria se isso acontecesse.
Entretanto, Lusitana e Alma continuavam incansáveis, deixando-se apenas dominar pelo fogo guerreiro que as consumia e nunca cedendo nem um passo ao cansaço e ao desalento. Nos momentos de pausa, procuravam ajudar os mais fracos que mal sabiam esgrimir; porém, nada mudava.
O velho continente europeu comandava, largamente distanciado das outras nações e, mesmo o representante americano, nada pudera fazer contra aqueles, cuja antiguidade era um acréscimo à sua força e denodo.
No combate final, encontraram-se o representante espanhol e a Alma empunhando a Lusitana. A luta foi aguerrida lembrando outras guerras em que os dois países se haviam defrontado e rivalidades nunca esquecidas e, por alguns, empoladas.
Alma e Lusitana foram as vencedoras do torneio.
Elas eram e são uma só, a Alma Lusitana que nunca se deixará vencer e que continuará invencível por toda a eternidade, enquanto houver combates e continuará a falar uma língua tão antiga como o país que representa.
Alma Lusitana é um bem coletivo e da união nasce a força e a vitória.
E enquanto houver um português vivo, a Alma Lusitana estará lá a combater sem parar.
Estremunhada, abri os olhos. Dormitara.
Na secretária, dois objetos responsáveis pelo meu devaneio: uma História de Portugal e a espada do meu avô, oficial das Forças Armadas.
No caderninho onde escrevinhava as ideias para as desenvolver nos meus livros, algo estava escrito: “Um cristal não teria um som mais puro, límpido e transparente…”


E o galo cantou
Joaquim António Salgado Almeida
Todos conhecem o Galo de Barcelos.
A sua estória, nem tantos.
Não entrando em pormenores, direi apenas que, segundo a lenda, o Galo de Barcelos cantou numa assadeira, e salvou um inocente.
Foi um milagre, dizem.
Prestes a ser enforcado por atribuição de assassínio, o condenado, suplicou que o levassem junto do juiz que ditara a sentença.
Atenderam ao pedido do peregrino, que ia a caminho de Santiago de Compostela, levando-o junto do magistrado.
Estava o juiz num repasto com ilustres convivas, quando o réu, em desespero, lhe diz ser tão certo ele estar inocente, como o galo que estava na assadeira, se levantar e cantar.
Riu-se o Senhor das Leis do galego condenado. Pasmou-se logo a seguir, que o galo cantou.
A estória que, agora, conto, não mete galegos, é recente e aconteceu algures no concelho de Fafe.
Na ocasião, havia, na casa dos meus sogros, galinhas, um galo e um peru.
Estes dois figurões não se entendiam nada bem.
O galo, sentia-se dono das galinhas e, por isso, não tolerava o outro macho, apesar das espécies diferentes.
Era uma constante cantoria: cócórócó para ali e glu glu para acolá.
Atirava-se o galo ao peru, mesmo levando na crista.
A situação tornava-se insustentável, pelo que as mulheres entenderam que o melhor seria arrumar com um deles.

Pela lógica, seria o bicho oriundo das américas, que nada tinha a ver com galinhas.
Acontece que, no capoeiro, um franganito vistoso, prometia, a curto prazo, ser galarote capaz de tomar conta das galináceas damas.


Assim, tendo em conta a sucessão assegurada e para evitar novas lutas, foram os dois velhotes condenados. Primeiro o peru, depois o galo.
Não gostei do veredicto que ditou a sorte dos ditos. O Tenório do Torga veio-me à memória.
Logo pensei - repete-se a estória.
Longe estava de pensar noutra estória prestes a repetir-se.
Entretanto, lá me fui mentalizando com a sentença, pois admiti que tais criaturas, afinal, eram criadas tendo como destino o repasto dos patrões.
Contra factos não há argumentos, e assim os bichos lá foram parar ao forno.
Recusei o convite para degustar o grandalhão.
Passados uns dias, foi a vez do “Tenório”.
Como a minha recusa nada contribuía para a salvação do dito, dessa feita, aceitei o convite.
Na hora do almoço, na casa da Rosinha, a minha cunhada, mesa posta e um cheirinho a assado, que provocava devaneios às minhas papilas gustativas…
Todos sentados, menos a dona da casa que, de pingadeira nas mãos, transfere a iguaria do forno para a mesa.
Embora salivando, não resistiu o Almeida a um comentário de pesar.
- Pobre galo, nunca mais cantas!...
Ainda as palavras pairavam no ar, e logo um estridente CÓ CÓÓ RÓÓCÓÓÓ entoa na cozinha.
-Cruzes! credo! que é isto?!...
Atónita, a cozinheira, larga o bicho sobre a mesa.
Foi geral a estupefação…
- Mas que é isto, Senhor?!...
Não foi milagre, mas espantosa coincidência.
No bolso do contador ouviu-se a voz da ciência.
O telemóvel tocara.
Que nenhum grilo morra impunemente
Fátima Marinho


Seria pobre falar-vos de abril se vos trouxesse somente a memória dos meus verdes anos de bibe, onde o silêncio imperava. Chiu, chiu! Não fosse um bufa ouvir falar do tempo e julgar que se dizia mal de Salazar. Chiu, Chiu!
O passado, por definição, está morto. Mas, por ironia, regressa a cada passo. A repressão implacável e insidiosa espreita. Abril dos cravos está para fazer cinquenta anos e, incrivelmente, continuam a querer esmagar os grilos que cantam. É preciso muita coragem para não deixarmos que a lama opressiva da censura e do medo nos cale.
Uma criança contou-me há tempos uma história horrível. Alguém que alegadamente as deveria cuidar, castigava-as à menor traquinice. Colocava-as viradas para a parede durante o tempo de intervalo e ficava a vigiar para que não conversassem ou fizessem outra coisa que não fosse ficarem a olhar para a parede ou para o céu. Numa dessas ocasiões, um dos meninos castigados, tinha consigo um grilo, dentro de um pequeno saco de papel furado, com serradela. A mulher agarrou o saco e, ato contínuo, pisou-o. O menino não pensou nas consequências e chamou-lhe em altos berros: - Velha assassina!
Ficou de castigo, virado para a parede, durante uma semana.
Bendita criança que não se calou perante o massacre do seu grilo de estimação. Triste local aquele onde ninguém ouviu os gritos de indignação do menino. Triste local.
As instituições depois de Abril parecem querer soçobrar. Criadas para cuidar e proteger, atacam como aves de rapina.
Quem salvará os grilos que cantam?
O meu avô materno, também grilo cantante, foi um exilado no Brasil, porque era um homem livre defensor descarado dos valores da República, quando o bastião da Monarquia os contava a dedo para lhes cortar a cabeça. Não foi assim há tanto tempo. E eu sou sua neta. Parece que um dia destes vos contarei uma história sobre coisas do destino que nos correm no sangue, porque as há!

Entretanto, logo, logo é Abril. Passaram cinquenta anos. Passaram tão depressa que os querem prender, abafar, trucidar.
Nada a fazer, será o que for. Não consigo abandonar esta estranha forma de bem-querer os meninos que não deixam que o seu grilo morra impunemente.


A nossa língua e os nossos escritores
Coordenação de Álvaro Nunes

5OO anos do nascimento de Camões, o nosso poeta épico renascentista e vate maior da nossa lírica, bem como os centenários do nascimento dos poetas contemporâneos Alexandre O’Neill, António Ramos Rosa e Sebastião da Gama, marcam com “engenho e arte” diacrónico a diversidade da poesia portuguesa
Nomes a que se ajuntam o centenário da morte de Teófilo Braga, Presidente da República e homem de letras, bem como, entre outros, Ferreira de Castro nos 50 anos do seu falecimento ou Ary dos Santos, falecido há 40 anos, todos eles eminentes vultos da nossa literatura, que, como diria Camões, “por obras valorosas/ se vão da lei da morte se vão libertando”…
Obras nas quais se incluem, entre outras, a centenária edição de “O Romance da Raposa”, do insigne mestre Aquilino Ribeiro e prestam tributo a alguns que já partiram, como o poeta Nuno Júdice ou Eugénio Lisboa, ou despontam na conquista de galardões, como José Tolentino de Mendonça, Prémio Pessoa 2023.

ALEXANDRE O’NEILL, no centenário do seu nascimento
ALEXANDRE Manuel Vahia de Castro O’NEILL de Bulhões (1924-1986), poeta de descendência irlandesa, nasceu em Lisboa já lá vão 100 anos. Aí, na capital, faria os seus estudos secundários, após os quais frequentaria o curso de pilotagem na Escola Náutica que não pôde prosseguir devido a miopia. Com efeito, como diria “eu andei para marinheiro, mas pus óculos e fiquei em terra”…
Mais tarde, do ponto de vista profissional, viria a exercer múltiplas atividades como a de escriturário de várias instituições como na Previdência, nos Seguros, nas bibliotecas itinerantes da Fundação Calouste Gulbenkian, bem como numa editora, na redação de uma revista que nunca saiu, na RTP como colaborador de programas e revisor de texto e ainda na publicidade. Desta fase publicitária, ficaria recordado o seu slogan institucional “há mar e mar, há ir e voltar”, encomendado pelo Instituto de Socorros a Náufragos.

Diz-se, porém, que o poeta publicitário gostaria acima de uma outra versão do slogan: “há bar e bar, há ir e voltar”. De facto, como afirmaria a sua irmã Maria Amélia, o poeta era sobretudo um homem de três “cês”: cama, copos e conversa. De facto, o fascínio pelo sexo oposto era um dos seus “pontos fracos”, que terá começado a ser praticado logo na 3.ª classe, quando beijou (inocentemente) a colega Bertilde e mereceu uma admoestação colegial. Iniciação amorosa que, consta, prolongaria e cultivaria ao longo da vida, ao afirmar ironicamente que “em Portugal os poetas tinham muita saída”. Por isso, sempre que podia, como em “Os lagartos ao sol”, assim se intitula o poema da obra “De Ombro na Ombreira” (1969), sempre que possível, lá estava o poeta à perna dela(s):
“Expõe ao sol a perna escalavrada no Jardim do Príncipe Real uma velha inglesa. Não há nada tão bonito (pra mim, só natural).

E conversamos: ‘Helioterapia
medicina barata em Portugal’
Accionista do sol, ajudo à missa: ‘But, não muito, que senão faz mal’
Gozosos, eu e a velha, ali ficamos à mercê de meninos e marçanos.
Ela, a inglesa, de perninha à vela; E eu, o português, à perna dela.
Talvez que, se Briol nos conservara, alguém um dia nos ajardinara”.
Com efeito, não se livrando da fama de mulherengo e irreverente, o poeta faria jus à sua reputação e casaria duas vezes: com Noémia Delgado e Teresa Patrícia Gouveia, esta última ex-ministra dos governos de Cavaco Silva e Durão Barroso.
Aliás, seria esta propensão para o sexo oposto que o levaria também à sua paixão pela escritora francesa e surrealista Nora Mitrani, por quem se apaixonaria quando esta esteve em Lisboa, no início da década de 50. Uma situação que lhe daria inspiração para escrever o longo e conhecido poema “Um adeus português”, título que mais tarde seria adotado pelo cineasta João Botelho num filme homónimo.
A primeira e última estrofes deste poema, inserido na obra “No Reino da Dinamarca” (1958), que convidamos a ler na íntegra, são elucidativas:
“Nos teus olhos altamente perigosos Vigora ainda o mais rigoroso amor a luz dos ombros pura e a sombra duma angústia já purificada. (…)
Nesta curva tão terna e lancinante que vai ser que já é o teu desaparecimento digo-te adeus e como um adolescente tropeço de ternura por ti”.

Com efeito, como ele próprio explicaria anos mais tarde:
“quando escrevi Um Adeus Português há quase quarenta anos, estava a sofrer pressões inacreditáveis por parte de alguém da minha família para não ir atrás da francesa. A francesa, a minha querida e já falecida amiga Nora Mitrani queria que eu fosse ter com ela a Paris, onde vivia. Vens, ficas cá e depois se vê, era o que o seu otimismo me dizia por carta. Mas as coisas não se passaram assim.
A pressão (ou melhor a perseguição) chegou ao ponto de ter sido metida uma cunha à polícia política para que o passaporte me fosse negado, o que aconteceu, não sem que eu, primeiro, tivesse sido convocado para a própria sede dessa polícia e interrogado pelo subinspetor Seixas.
Seixas usou comigo uma linguagem desmedida. Perguntou-me que ia eu fazer a Paris. Respondi: - Turismo (…)“.
Porém, esta primeira visita à PIDE seria suficiente para o cadastrar e mais tarde o levar ao cárcere em Caxias, 1953, pelo simples facto de ter ido esperar Maria Lamas, quando esta regressara do Congresso da Paz em Viena, bem como ser despedido da função pública por não pactuar com o regime salazarista.
Homem de feição aristocrática, despiciendo das opiniões alheias e regras do dito bom gosto e bons modos, Alexandre O’Neill era ainda um bom garfo que adorava comer (“sou magro, mas tenho fama grande”). Mas, acima de tudo, um ser inconformado, que não aceita as restrições e que tem em si o potencial para a libertação individual e irreverência. Tanto na vida como na poesia.
O poema “Auto-retrato” pleno de ironia e espirituoso traça o seu retrato físico e psicológico, no qual se insinua uma certa angústia, desdém e tristeza e uma vida não exemplar:
“O’Neill (Alexandre), moreno português, cabelo asa de corvo; de angústia da cara, nariguete que sobrepuja de través a fenda desdenhosa e não cicatrizada
Se a visagem de tal sujeito é o que vês (omita-se o olho triste e testa iluminada) o retrato moral também tem os seus quês (aqui, uma pequena frase censurada).
No amor? No amor crê (ou não fosse ela O’Neill!) e tem a veleidade de o saber fazer (pois o amor não há feito) das maneiras mil que são a semovente estátua do prazer
Mas sofre de ternura, bebe de mais e ri-se do que neste soneto sobre si mesmo disse”

Efetivamente, proibido de beber e fumar devido aos seus problemas cardíacos, preferiu desobedecer e ser igual a si mesmo, pelo que o seu coração (amoroso) não resistiria a dois AVC: em 1984 e o fatal em 1986. Inevitabilidade à qual dedicaria em vida um próprio epitáfio, irónico e autocrítico: “Aqui jaz Alexandre O’Neill/um homem que dormiu pouco/ Bem merece isto...”
No que concerne à sua obra, O’ Neill seria um dos fundadores do denominado Grupo Surrealista de Lisboa, em 1948, com os seus amigos, pintores e poetas, entre os quais Mário Cesariny, António
Pedro e José Augusto França, que posteriormente se afundaria em dissidências diversas. Um movimento artístico em que se inicia com o trabalho “Ampola Miraculosa” (1948) cujo projeto passa pela libertação do homem e a libertação total da arte (da palavra).
Autor de obras diversificadas, designadamente algumas antologias como “Gomes Leal” (1962) e “Teixeira de Pascoaes” (1962), que conheceria em Amarante (ambas as obras redigidas em colaboração com F. Cunha Leão), bem como sobre “João Cabral de Melo Neto” (1963) e “Vinícius de Moraes” (1969), O’Neill legarnos-ia também um pouco de prosa, entre a qual se destacam as crónicas sob o título “As andorinhas não têm restaurante” (1970) e os contos e crónicas de “Uma coisa em forma de assim” (1980).
Uma atividade literária que completa com traduções, como guionista e ator-narrador e edição de discos de poesia entre os quais se salienta “Alexandre O’Neill diz poemas de sua autoria”.

Aliás, no domínio auditivo são ainda de relevar os arranjos musicais de alguns poemas seus, designadamente “Perfilados de medo”, inserido na obra “Abandonado Vigiado” (1960), interpretado por José Mário Branco e inserido no álbum “Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades”. Um poema-canção que retrata a perseguição e opressão da época e o lado mais crítico do poeta:

“Perfilados de medo, agradecemos o medo que nos salva da loucura. Decisão e coragem valem menos e a vida sem viver é mais segura
Aventureiros já sem aventura, perfilados de medo combatemos irónicos fantasmas à procura do que não fomos, do que não seremos.
Perfilados de medo, sem mais voz, o coração nos dentes oprimidos, os loucos, os fantasmas somos nós.
Rebanho pelo medo perseguido, já vivemos tão juntos e tão sós que da vida perdemos o sentido”.
Mas, musicalmente falando, registe-se também o poema “Há palavras que nos beijam”, musicado por Mário Pacheco e cantado por Mariza, ou “Formiga Bossa Nova”, cantado por Adriana Calcanhotto e Amália Rodrigues, que também interpretaria “Gaivota”, musicado por Alain Oulman: “Se uma gaivota viesse/trazerme o céu de Lisboa/no desenho que fizesse, / nesse céu onde o olhar/é uma asa que não voa/esmorece e cai no mar (…)”
Com efeito, precursor do surrealismo, provocador e irónico, zombando do “status quo” e do absurdo do quotidiano e parodiando os brandos costumes, Alexandre O’Neiil, acabaria por poetar sobre coisas sérias, o medo, o amor e Portugal, num registo próprio e “sui generis”. Deste modo, a sua poesia seria reconhecida pela sua singularidade, de forma que “Poesias Completas” (1951-1981), lhe granjearia o Prémio da Crítica do Centro Português da Associação Internacional de Críticos Literários (1983). No entanto, declinaria a homenagem que o estado português lhe pretendeu fazer ao atribuir-lhe o galardão da Grão Cruz da Ordem de Santiago e Espada, postura que logicamente abona a sua maneira de ser.
Realmente, iniciando-se no movimento surrealista bretoniano, do qual se viria a distanciar parcialmente, com “Tempo de Fantasmas” (1951), numa perspetiva que impregnaria de um certo concretismo, O’ Neill

preocupa-se acima de tudo com o “bom e expressivo”, ao qual acrescenta um estilo sarcástico e irónico muito pessoal, próprio da sua idiossincrasia irreverente, que denuncia com humor e náusea, as hipocrisias de um país que se assemelhava a uma “Feira Cabisbaixa” (1965), questionando os chavões da imagem portuguesa: “Ó Portugal, se fosses só três sílabas, linda vista para o mar, Minho verde, Algarve de cal, jerico rapando o espinhaço da terra, surda e miudinha, moinho a braços com o vento testarudo, mas embolado e, afinal. Amigo, se fosses só o sal, o sol, o Sul, o ladino pardal, o manso boi coloquial (…)
Doceiras de Amarante, barristas de Barcelos, Rendeiras de Viana, toureiros da Golegã, não há papo-de-anjo que seja o meu derriço galo que cante a cores na minha prateleira, alvura arrendada para o meu devaneio, bandarilha que possa enfeitar-me o cachaço. Portugal: questão que eu tenho comigo mesmo, golpe até ao osso, fome sem entretém, perdigueiro marrado e sem narizes, sem perdizes, rocim engraxado, feira cabisbaixa, meu remorso, meu remorso de todos nós…”
Paralelamente, o autor denuncia ainda o “versejar bonito”, que de certa forma o leva a enveredar por esquecer o lirismo em detrimento do pícaro e da ironia, à laia dos ancestrais veios da poética do escárnio e maldizer. Há, porém, na sua poesia, uma certa heterodoxia estética, avesso a qualquer tipo de catalogação, não obstante a vertente interventiva e exortativa da sua produção poética, direcionada à libertação dos constrangimentos e à libertação da palavra de todas as formas de censura, como soía no programa surrealista. Ademais, uma poesia dirigida “à sociedade portuguesa de que vai traçar como que a radiografia,

surpreendendo-a na sua mediocridade, nos seus ridículos, nos seus pequenos vícios provincianos” (Martinho, 1996).
Efetivamente, muitas vezes incompreendido pela sua rejeição aos tons cor-de-rosa na pintura da realidade, que a sua poesia expressa, O’Neill dá-nos também telas poéticas de simpatia, cumplicidade e afetividade, cantando expressivamente o sentimento da amizade, no poema “Amigo”:
“Mal nos conhecemos
Inaugurámos a palavra ‘amigo’
‘Amigo’ é um sorriso
De boca em boca
Um olhar bem limpo,
Uma casa, mesmo modesta, que se oferece,
Um coração pronto a pulsar
Na nossa mão
‘Amigo’ (recordam-se, vocês aí,
Escrupulosos detritos?)
‘Amigo’ é o contrário de inimigo!
‘Amigo’ é o erro corrigido,
Não é erro perseguido, explorado
É a verdade partilhada.
‘Amigo’ é a solidão derrotada!
‘Amigo’ é uma grande tarefa,
Um trabalho sem fim,
Um espaço útil, um tempo fértil,
‘Amigo’, vai ser, é já uma grande festa!”
Alexandre O’Neill é, seguramente, um poeta-amigo que faz da poesia uma grande festa…

António Ramos Rosa, no centenário do seu nascimento
ANTÓNIO RAMOS ROSA (1924-2013), nascido em Faro e militante do Movimento de União Democrática (MUD), opção política que o levaria à prisão, foi um empregado de escritório, correspondente comercial, professor e tradutor e esteve ligado às publicações literárias dos anos 50, como Árvore, Cassiopeia, ou Cadernos do MeioDia.
De facto, desenvolvendo uma relevante atividade nos domínios da teorização e criação poética nas revistas citadas, Ramos Rosa (RR) revelaria que sem esse incentivo “nunca teria adquirido a confiança necessária para iniciar e prosseguir a carreira poética”, que ao longo da sua vida literária lhe granjeariam o reconhecimento nacional e internacional, expresso nas atribuições do Prémio Pessoa (1988), o Grande Prémio da Poesia da Associação de Escritores Portugueses (1989) e o Prémio Europeu de Poesia (1991).
Efetivamente, iniciado em 1958 com “Grito Claro” (1958) e “Viagem Através de uma Nebulosa” (1960), Ramos Rosa (RR) legar-nos-ia várias dezenas de obras que estabelecem uma ponte entre o modernismo e as tendências poéticas mais recentes, numa poesia de carácter meditativo e reflexivo, na qual os elementos primordiais da natureza têm forte presença e a exploração da própria materialidade da palavra constitui a verdadeira matéria-prima do poema.
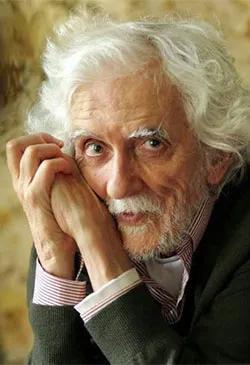
In, Portal da Literatura
Realmente, iniciando-se na senda do neorrealismo e surrealismo, de que posteriormente se afastaria, e influenciado pela leitura de Paul Éluard (1895-1952), RR assume-se como o poeta da simplicidade em que as árvores, a luz, a água, o ar, participam animicamente na criação poética, num discreto panteísmo congregador.

Deste modo, apontam-se como principais características da poesia de RR as representações do contemporâneo, baseadas no diálogo com a realidade, que, por vezes, envereda por momentos de evasão e refúgio da sua contemporaneidade. Uma cosmovisão que encara o quotidiano de forma opressiva e procura descobrir o outro e a realidade circundante, numa reflexão sobre a existência humana, mas também de denúncia das injustiças sociais, como os poemas “O Boi da Paciência” e “O Funcionário Cansado”, que, aqui, parcialmente transcrevemos:
(…)
“Sou um funcionário apagado um funcionário triste
a minha alma não acompanha a minha mão
Débito e Crédito Débito e Crédito a minha alma não dança com os números tento escondê-los envergonhado.
O chefe apanhou-me com um olhar lírico na gaiola do quintal em frente e debitou-me na minha conta de empregado
Sou um funcionário cansado dum dia exemplar
Porque não me sinto orgulhoso de ter cumprido o meu dever?
Porque me sinto irremediavelmente perdido no meu cansaço?
Soletro palavras generosas
Flor rapariga amigo menino irmão beijo namorada mãe estrela música
São as palavras cruzadas do meu sonho palavras soterradas na prisão da minha vida isso todas as noites do mundo uma noite só comprida num quarto só”. 30
De facto, um poema de denúncia da desumanização, traduzido na alienação do trabalho monótono e rotineiro, que se traduz na perda da individualidade e na consequente transformação em máquina ou peça da engrenagem.
30 Poema de António Ramos Rosa (in “O Grito Claro”, Faro: Ed. do Autor, col. A Palavra, 1958; “Antologia Poética”, prefácio, bibliografia e seleção de Ana Paula Coutinho Mendes, Lisboa: Publicações Dom Quixote, 2001 – pp. 30-31)

Porém, é sobretudo com a palavra e a sua depuração que o poeta artesão se preocupa e “aspira a tocar os limites do indizível e por aí confundir-se com a vida”. Uma poesia de uma fase posterior, cujo estilo assenta na linguagem quotidiana e nos vocábulos comuns, ainda que alimentada de metáforas e antíteses preciosas.
De facto, o poder e a liturgia das palavras são bem evidentes em composições poéticas como “Poema” e/ou “Que as palavras sejam fogo o fogo escrito”:
“As palavras mais nuas as mais tristes. As palavras mais pobres as que vejo sangrando na sombra e nos meus olhos
Que alegria elas sonham, que outro dia, para que rostos brilham?
Procurei sempre um lugar Onde não respondessem, onde as bocas falassem num murmúrio quase feliz, as palavras nuas que o silêncio veste.
Se reunissem para uma alegria nova, que o pequeno corpo de miséria respirasse o ar livre, a multidão dos pássaros escondidos, a densidade das folhas, o silêncio e o céu azul e fresco”
“Que as palavras sejam o fogo escrito nas paredes verdes dos escarros que venham sobre o sono e a fadiga do poeta altas leve ardentes humildes nuas

Que elas digam a sombra e o azul sob a sombra e a impossível vida sem árvores sem mulheres sem horizonte sem mar
Que digam o supremo desejo renascido na boca atroz que sejam a frescura na ferida atroz”
Com efeito, “Poema” remete, desde a primeira estrofe, para a pureza e simplicidade das palavras, às quais dá vida (“para que rostos brilham?”), cujo sujeito poético assume a missão de lhes procurar um lugar certo. Um eu lírico que na última estrofe ambiciona atingir a perfeição da poesia, pois esta é criadora de um mundo de possibilidades e inventa uma realidade alternativa.
Por sua vez, no poema “Que as palavras sejam o fogo escrito”, RR exprime um voto solene sobre a sublime vocação da palavra poética, desejando que esta supere as provocações acusatórias (“paredes verdes de escarros”) e tenham a energia do “fogo escrito”, de forma a que a poesia proceda ao renascimento do mundo e ação libertadora.
Outra das vertentes da representação do contemporâneo de RR são as referências à mulher e ao amor. Efetivamente, a mulher está bem presente em vários poemas, como “A casa é viva” ou “Corpo e Terra”, que parcialmente se transcreve:
(…)
“Entrar em ti, mulher, ó lâmpada de seda, abrir na paisagem de um só tronco com boca, encrespar as planícies da tua pele ondulada, ó como o mar é claro nesta onda deitada!
Ó como eu sou um homem no meio-dia claro! (…)”
Evidente no poema, o corpo feminino na sua nudez íntima, em comunhão com a natureza vegetal e marítima, cujo desejo erótico é transformado no desejo de iluminação interior (“lâmpada de seda”) e fascínio por essa claridade.
De facto, o amor é outra referência da poética do autor. Com efeito, no poema “Não posso adiar o amor”, RR destaca veementemente a ideia da sua demanda inadiável e urgente, por mais obstáculos e adversidades encontradas na sua busca:

“Não posso adiar o amor para outro século não posso ainda que o grito sufoque na garganta ainda que o ódio estale e crepite e arda sob as montanhas cinzentas e montanhas cinzentas
Não posso adiar este abraço Que é uma arma de dois gumes amor e ódio
Não posso adiar ainda que a noite pese séculos sobre as costas e a aurora indecisa demore não posso adiar para outro século a minha vida nem o meu amor nem o meu grito de libertação
Não posso adiar o coração”.
Poeta de um lirismo depurado, exigente no poder da palavra, que os seus textos críticos e teóricos expressam, entre outros, “Poesia, Liberdade Livre” (1962), ou “A Poesia Moderna e a Interrogação do Real” (1962). Ramos Rosa considera que “o poeta moderno não escreve para dizer algo que conhece, mas para dizer o que ignora, para encontrar o verdadeiramente desconhecido, o inicial”; e ainda que “as palavras não se distinguem das coisas, o que as liga não é a relação de um signo e referente, ou significado, mas a energia que, através da operação da linguagem, as percorre e assim desvenda a unidade do presente criador”.
Assim, organizada em torno da “existência natural do homem, dos animais e das plantas, dos minerais” a sua poesia assenta “numa linguagem naturalmente simples e essencial” (Martins, Manuel Frias, 1983), que visa superar a dicotomia entre poesia social e poesia pura, no pressuposto que o trabalho sobre a linguagem não impede o empenhamento cívico.
Em súmula, viver poeticamente é o apelo ou o desejo que exprime a poesia e a vida de António Ramos Rosa…
Recorde-se ainda a obra “Rotações” (1991), o produto criativo do dinamismo solidário de três poetas: Ramos Rosa, Agripina Marques e o vimaranense Carlos Poças Falcão.

Sebastião da Gama, no centenário do seu nascimento
“Pela Poesia se vai até à verdade…”
(Sebastião da Gama)
SEBASTIÃO Artur Cardoso da GAMA (1924-1952), o professor e poeta, viveu apenas escassos 27 anos, perseguido desde a juventude por uma tuberculose óssea/renal que o vitimaria.
De facto, apesar de marcado desde cedo pela consciência da efemeridade da vida, o poeta legar-nos-ia liricamente uma lúcida aprendizagem da morte e confiança na vida, sem desistências e desalentos, que a sua obra “Cabo da Boa Esperança” (1947) claramente indicia:
“A vela rasgou-se em fitas E quando ao mais desde o casco até à ponta dos mastros, o fundo do Mar que o diga.
Cá por mim, passei o cabo.
Cheguei aonde o Destino desde sempre me chamava, Se estou sem pinga de sangue depois de tantos naufrágios, se arribei são ou doente, se tenho os ossos partidos, é melhor não perguntá-lo.
Basta saber que cheguei e que é de lá que vos falo”.

Com efeito, nascido em Vila Nogueira de Azeitão em 10 de abril de 1924, já lá vão cem anos, aí viveria até à primeira adolescência, paredes meias com o seu local de retiro na Serra da Arrábida, defronte ao ilhéu de Pedra da Anicha, para onde se deslocaria terapeuticamente por conselho médico. Residira posteriormente

no Portinho da Arrábida, em companhia dos pais, que aí instalariam uma pousada e restaurante. Deste modo, Sebastião da Gama (SG) vivenciaria na serra mãe a exaltação da vida e da natureza, que canta nessa obra “Serra-Mãe” (1945), a sua segunda publicação. Uma obra que é um hino de exaltação da vida, em comunhão com os homens, a natureza e com Deus, na ânsia da ascese transcendental, que a Arrábida catapulta para o encontro consigo mesmo e os outros:
“Batam-me à porta os que andam lá por fora, à neve; batam os que tiverem frio e sede; os que tiverem saudades de carinho; os desprezados;
os que há muito não veem uma flor e encontram só poeira no caminho: os que não amam já nem já os ama ninguém os esquecidos de como se sorri; os que não têm Mãe … (…)”
Realmente, o poeta teria a doença, o catolicismo e a sua região da Arrábida como circunstâncias básicas da sua vida. De facto, desde as primeiras letras na escola de Azeitão até ao ensino secundário no Liceu Bocage, em Setúbal, antes de rumar a Lisboa para frequentar a licenciatura em Filologia Românica, que lhe daria acesso à docência no ensino técnico e industrial em Setúbal, Lisboa e Estremoz, o vate arrábido alicerça nesses pilares a sua vivência e arte poética, que a natureza da Serra da Arrábida e a conversão à fé cristã cimentam. Porém, uma vida exígua, que seria também partilhada por escassos meses em companhia da vizinha e amiga de infância Joana Luísa Rodrigues, com quem casaria em 1951, poucos meses antes da sua morte.
Homem estimado por todos, que David Mourão Ferreira consideraria “bondade em carne e osso” e que impressionava “desde o primeiro contacto, na franqueza, vivacidade e pureza do seu olhar “acrescentaria Lindley Cintra, o Poeta da Arrábida toma a poesia como uma dádiva divina e uma espécie de chamamento transcendente, valorizando as coisas mais simples com a humilde e ternura da infância, que este “Pequeno Poema”, extraído da sua “Antologia Poética” dilucida:

“Quando eu nasci ficou tudo como estava, Nem homens cortaram veias
Nem o Sol escureceu, Somente, esquecida das dores, a minha Mãe sorriu e agradeceu, (…)”
Com efeito, iniciado precocemente em vários periódicos locais, nos primeiros tempos sob o pseudónimo
Zé d’Anicha e posteriormente na imprensa diária como o Diário Ilustrado, Diário Popular e Diário de Lisboa, entre outros, bem como em revistas literárias como Flama, Mundo Literário, Brotéria e Távola Redonda, SG revelar-se-ia como uma alma mística e franciscana em que a natureza é um “sinal da Beleza de Deus, incarnada nas coisas” (Maria de Lourdes Belchior, 1983), que o pressentimento da morte precoce não obsta a bloquear nas trevas do pessimismo, mas antes a avançar na visão otimista de uma vida impregnada de intensidade, como o poema “Alegoria ”, integrado na obra “Campo Aberto”(1951) deixa transparecer:
“Transluzem os Astros no céu nítido~
Dona Cigarra faz serão.
Como há de esta dormir, se a vida é curta?
- Cigarra que se preze, quando morre
Não deve estar a meio da canção”.
Efetivamente, como no canto da cigarra, a morte pressentida pelo aedo arrábido soergue-se como um apelo à vida e a sua poesia afirma-se como um espaço de sobrevivência e realização do sonho de plenitude, como o poema da obra “Pelo Sonho é que vamos” (1953), publicado a título póstumo, indicia:
“Pelo sonho é que vamos, comovidos e mudos.
Chegamos, não chegamos?
Haja ou não haja frutos, pelo sonho é que vamos.
Basta a fé no que temos
Basta a esperança naquilo que talvez não teremos.

Basta que a alma demos, com a mesma alegria, com que desconhecemos e no que é o dia a dia.
Chegamos? Não chegamos?
Partimos. Vamos. Somos”
Constata-se assim uma poesia em tom coloquial, aparentemente prosaica, assente na simplicidade vocabular e comunicabilidade direta e espontânea, cujas imagens, sonoridades e ritmos, pretende vigorosamente abrir aos homens as janelas do sonho e da autenticidade.
Não se estranhe por isso o poema “Meu país desgraçado”, inserido em “Cabo da Boa Esperança”, que mais parece próprio da corrente neorrealista. Com efeito, neste poema, SG apenas exorta a combater a atitude de braços cruzados e a defender a autenticidade, mantendo-se, todavia, fiel à liberdade de criação presencista e (parcialmente) alheio à necessidade de empenhamento social mais próxima dos neorrealistas.
“Meu país desgraçado!
E, no entanto, há Sol a cada canto e não há Mar tão lindo noutro lado.
Nem há céu mais alegre do que o nosso, nem pássaros, nem águas…
Meu país desgraçado?
Por que fatal engano?
Que malévolos crimes teus direitos de berço violaram?
Meu povo de cabeça perdida, mãos caídas, de olhos sem fé - busca dentro de ti, fora de ti, aonde a causa da miséria se te esconde
E em nome dos direitos que te deram a terra, o Sol, o Mar, fere-a sem dó com lume do teu antigo olhar.

Alevanta-te, Povo!
Ah! visses tu, nos olhos das mulheres, a calada censura que te reclama filhos robustos!
Povo anémico e triste
meu Pedro Sem, sem forças, sem haveres! - olha a censura muda das mulheres!
Vai-te de novo ao Mar!
Reganha tuas barcas, tuas forças e o direito de amar e fecundar as que só por Amor te não desprezam!”.
Após a sua morte, em 7 de fevereiro de 1952, a sua obra seria publicada a título póstumo pela esposa, destacando-se entre outros títulos “Itinerário Literário” (1967) e as suas páginas de memórias reunidas em “Diário” (1958) e “O Segredo de Amar” (1969), integrando tanto o registo memorialístico, como pequenas narrativas, artigos publicados, comunicações públicas ou impressões de viagens. Obras que se ajuntam “Lugar de Bocage na nossa poesia de amor” (1953) e “Cartas” (1994).
Acrescente-se que algumas das suas obras foram ilustradas com vinhetas do seu amigo e pintor Lino António e alguns poemas seus foram musicados e cantados por Amália Rodrigues, Maria Bobone e Ana Moura.
O autor encontra-se ainda evocado na Escola de S. Julião e Colégio Diocesano, ambas as instituições sediadas em Setúbal, bem como patrono da EB 2,3 de Estremoz, onde lecionou e no Museu-Biblioteca Sebastião da Gama, na sua terra.
Foi ainda agraciado, em 10 de Junho de 1993, a título póstumo, com a Grã-Cruz da Ordem do Infante por Mário Soares e em 2007 Cavaco e Silva inaugurou em Azeitão um monumento em sua memória.
Mas, para além de poeta, Sebastião da Gama distinguiu-se também com pedagogo e professor, que a citada obra “Diário” revela, enquanto experiência docente e valiosa reflexão sobre o ensino. Considerado um poema pedagógico em prosa, “Diário” descreve a experiência de estágio pedagógico de SG entre janeiro de 1949 e fevereiro de 1950, que permanece como uma lição atual de pedagogia, centrada no sentido de

responsabilidade, generosidade e criatividade, com o intuito de uma educação para a liberdade e descoberta da relação interpessoal, bem como na arte de incitamento ao saber.
Como diz Lindley Cintra, inserido no Dicionário de Literatura de J. Prado Coelho “o Diário é, sem dúvida, um dos mais impressionantes documentos humanos escritos em Portugal na primeira metade do século XX – documento sobre a maneira como concebia o ensino e a vida, alguém para quem dar uma aula mal se distinguia de criar um poema”.
De facto, tendo como pressuposto que “ser professor é dar-se”, porque “ensinar é amar” e não mera transmissão de saberes, SG “gostava que os rapazes aprendessem nas nossas aulas (…) primeiro de tudo a aproximar-se dos homens, dos bichos, das paisagens e de Deus”. Conviver era assim a palavra-chave do seu projeto educativo, em que a aula ultrapassava os muros da escola e assentava muitas vezes nas sugestões didáticas dos alunos. Iniciativas criativas que passavam, por exemplo pela Semana do Animal com recurso às fábulas, a Semana da Poesia que visava saborear a doçura das palavras, ou a Semana da Anedota, que além da perspetiva lúdica, levava os alunos a refletir sobre a adequação da linguagem a diversas situações discursivas.
No fundo, a assunção do papel de professor-educador e professor-formador que o leva a afirmar que no exercício da docência “é preciso ser Poeta principalmente por dentro” e a sentir-se realizado predestinado: “Bendito seja Deus por eu ser professor…”
Assim, como aspirava e cantou no poema “Cortina”, inserto na obra “Serra-Mãe”, uma vida fugaz, mas intensa:
“Que a morte, quando vier
Não venha matar um morto, Quero morrer em pujança.
Quero que todos lamentem
A ceifa de uma esperança.
(…)”
Paralelamente deixar-nos-ia as suas memórias reunidas em “Diário” (1958) e “O Segredo é Amar” (1969), cujas páginas integram registos memorialísticos, pequenas narrativas, comunicações públicas e impressões de viagens.

Ary dos Santos, poeta comunista czarista
José Carlos Pereira ARY DOS SANTOS, poeta e declamador, faleceu há 40 anos, concretamente em 18 de janeiro de 1984. Nascido em 7 de dezembro de 1937, em Lisboa, e proveniente de uma família da alta burguesia aristocrata, Ary dos Santos legar-nos-ia uma obra poética considerável e centenas de letras de canções cantadas por artistas consagrados como Amália Rodrigues, Carlos do Carmo e Fernando Tordo, entre outros. Com efeito, Ary dos Santos é um autor relevante na história da música portuguesa por ter escrito quatro canções vencedoras do Festival RTP da Canção: “Desfolhada” (1969), cantada por Simone de Oliveira; “Menina do Alto da Serra” (1971), na voz de Tonicha; “Tourada” (1973), interpretada por Fernando Tordo; e “Portugal no Coração” (1977), entoada pelo grupo “Os Amigos”.

Fonte: Wikipédia
Outrossim, contam-se entre os seus êxitos “Cavalo à Solta”, cantado por Fernando Tordo, “Lisboa, Menina e Moça”, “Os Putos” e “Estrela da Tarde”, pela voz de Carlos do Carmo, a que se ajuntam outros poemas interpretados por Mariza, Mafalda Arnauth, Paulo de Carvalho e fados de Amália Rodrigues, entre os quais sobressaem “Meu Amor meu Amor”, “Amêndoa Amarga”, “Rosa Vermelha” e “Alfama”. De destacar ainda as suas parcerias com compositores como Nuno Nazaré Fernandes, Alain Oulman, José Mário Branco e António Victorino de Almeida, sendo ainda de realçar a sua estreita colaboração discográfica com Carlos do Carmo no LP “Um Homem da Cidade” (1977) e no álbum “Um Homem no País” (1984).
Realmente, embora seu nome seja sobretudo relevado enquanto poeta, Ary dos Santos operaria uma renovação profunda na lírica musical, cantada em forte tom exaltado e passional, na qual a sátira social marca presença, condimentada com saboroso arrebatamento lírico.

Igualmente, graças à sua voz vibrante e teatralidade, sobressairia uma faceta marcante de exímio declamador. Comprovam-no discograficamente os trabalhos “Ary por si próprio” (1970), “Cantigas de Amigos” (1971), “Poesia Política” (1975), “Ary por Ary” (1979) e “Ary 80”, reeditado em CD em 1999, ou ainda o duplo álbum “O Sermão de Santo António aos Peixes” do Padre António Vieira.
Biograficamente falando, podemos asseverar que Ary dos Santos, apesar da sua origem elitista, foi sobretudo um rebelde inveterado. Basta recordar que logo no início da sua instrução básica seria expulso do Colégio Infante de Sagres, por mau comportamento, o que acarretou ser transferido para o Colégio Jesuíta Nuno Álvares, nas Caldas da Saúde, em Santo Tirso; e, mais tarde, para o Colégio São João Batista, de novo em Lisboa, cidade onde também frequentaria sem sucesso as Faculdades de Direito e de Letras. Igualmente e após a morte da mãe, com apenas 13 anos, acabaria por se incompatibilizar com o pai, o médico Carlos Ary dos Santos, mais por razões pessoais do que políticas e subsequentemente a abandonar a casa de família, com apenas 16 anos.
Simultaneamente, enveredando por alinhamentos políticos de esquerda que o levariam, em 1969, a aderir ao Partido Comunista Português, no qual implementaria sessões de “Canto Livre Perseguido” e encetaria uma ativa militância partidária, Ary dos Santos foi efetivamente uma figura singular, cuja insurgência radical se traduziria na sua envolvência no assalto à embaixada de Espanha, nos anos do PREC, em 1975, bem como a uma vida de sobrevivência dificultosa, suportada graças a atividades profissionais dispersas e esporádicas, quer como paquete e escriturário, quer como vendedor e técnico de publicidade. Neste “Autorretrato” de cariz caricatural, o poeta apresenta-se despojadamente:
“Poeta é certo, mas de cetineta fulgurante de mais para alguns olhos bom artesão na arte da proveta narciso de lombardas e repolhos.
Cozido à portuguesa mais as carnes suculentas da auto-importância com toicinho e talento ambas partes do meu caldo entornado na infância.
Nos olhos uma folha de hortelã que é verde como a esperança que amanhã amanheça de vez a desventura.

Poeta de combate disparate palavrão de machão no escaparate porém morrendo aos poucos de ternura”. In, do meu caldo entornado na infância
Com efeito, vivendo parcialmente espartilhado entre a contradição decorrente das suas origens familiares e as suas opções ideológicas, Ary dos Santos não vacilaria no seu rumo livre, e uma vida intensa, geralmente vivida em contestação com a sua formação católica e o seu estilo de vida. Assim, e perante as afinidades familiares à aristocracia europeia, particularmente Catarina da Rússia, afirmar-se-ia ironicamente como um “comunista czarista”, que em “Adereços, Endereços”, explicita: “Catarina da Rússia, minha prima/pela fronteira travessa/deixou-me, além do gosto pela esgrima/com a moral avessa/uma casaca de marta sibilina/que abafa muita viscondessa”.
Contudo, no inerente ao ponto de vista poético, iniciado ainda muito novo em poemas juvenis que viria a rejeitar, Ary dos Santos revela-se, apenas em 1954, com a inclusão de alguns poemas seus na “Antologia do Prémio Almeida Garrett” e, posteriormente, com a publicação de “A Liturgia de Sangue” (1963), do qual transcrevemos passagens do poema “Kyrie”:
“Em nome dos que sonham com palavras
De amor e paz que nunca foram ditas
(…)
Em nome dos que pedem em segredo
A esmola que os humilha e destrói (…)
Em nome dos que dormem ao relento
Numa cama de chuva com lençóis de vento (…)
Em nome dos teus filhos que esqueceste, Filho de Deus que nunca mais nasceste, Volta outra vez ao mundo!”.
Seguir-se-iam, mais tarde, várias outras obras como “Tempo da Lenda das Amendoeiras” (1964), “Adereços, Endereços” (1965), “Foto-Grafias” (1970) e, entre muitas outras, “As portas que Abril abriu”, um longo poema sobre a Revolução de Abril, do qual transcrevemos esta curta passagem:

“Era uma vez um país onde entre o mar e a guerra vivia o mais infeliz dos povos à beira-terra. (…)
Foi esta força sem tiros de antes quebrar que torcer esta ausência de suspiros esta fúria de viver este mar de vozes livres sempre a crescer, a crescer que das espingardas fez livros para aprendermos a ler que dos canhões fez enxadas para lavrarmos a terra e das balas disparadas apenas o fim da guerra.
Foi esta força viril de antes quebrar que torcer que em vinte cinco de Abril fez Portugal renascer (…)”

Poeta do povo e de Abril, ao mesmo tempo popular e erudito, balizado entre o amor e a luta, revelandose “sempre fraterno e cúmplice na primeira linha de combate; poeta generoso e lúcido, que mascarava com o manto diáfano dos excessos a sua íntima e profunda solidão”, Ary dos Santos é, na perspetiva de Domingos Lobo, “o poeta solidário, morrendo aos poucos de ternura; o poeta dos instantes, dos dias altos, levantados, irrepetíveis de Abril”.
Ou, como diz David Mourão-Ferreira, uma poesia “erótica e política, apocalíptica e tribunícia, mesmo quando francamente ao serviço de um ideário e duma praxis cívica que não recusam assumir-se como tais, rarissimamente renuncia, no entanto, àqueles pensadores da invenção metafórica que constituem outra vertente da modernidade”.
Atualmente, para além da sua poesia, Ary dos Santos encontra-se também recordado na toponímia de um largo no Bairro de Alfama e na placa evocativa colocada na fachada da sua casa na Rua da Saudade, bem

como em Sacavém (Loures), na Biblioteca Municipal, com seu nome.
Além disso, na obra herdada, para além da mencionada, a sua poesia seria coligida e reeditada pelas edições Avante sob o título “Obra Poética” (1994), bem como nos “VIII Sonetos de Ary dos Santos” (1984), que complementarmente com um estudo de Manuel Gusmão, seria apresentada na Sociedade Portuguesa de Autores, de que era membro.
Em aditamento, o poeta que, em 2004, receberia a título póstumo o galardão de Grande
Oficial da Ordem do Infante D. Henrique, seria ainda alvo de dois trabalhos de compilação: “O
Menino Ary dos Santos”, por Fernando Tordo, que compila poemas da infância do poeta, assim como o álbum “Tributo – Rua da Saudade” (2009) com canções diversas do seu reportório lírico.
Há, pois, pano(s) para mangas para (re)ler, (re)cantar e recordar Ary dos Santos, que em “Resumo” (1973), no seu poema “Poeta Castrado, Não!”, proclama assumptivo e convicto:
“Serei tudo o que disserem por inveja ou negação; cabeçudo, dromedário fogueira de exibição teorema, corolário (…)
Serei tudo o que disserem Poeta castrado, não!
(…)”

Um poeta e um declamador cujos poemas e canções fazem parte do património cultural português, que justamente seria apelidado de “poeta de Lisboa e do seu povo, de Portugal e de Abril”.

Teófilo Braga
Joaquim Fernandes Braga, que aos dez anos se matricularia na instrução primária com o nome Teófilo, nasceu em Ponta Delgada a 14 de fevereiro de 1843 e faleceu em 26 de janeiro de 1924, há cem anos.
Ora, Teófilo Braga foi um pouco de tudo. Com efeito, doutrinador e político, que chegaria a assumir funções de Presidente da República, filólogo e poeta, além de sociólogo e ensaísta, Teófilo Braga seria ainda um dos principais representantes da Geração de 70, da qual também faria parte com o seu conterrâneo Antero de Quental é um dos mais prolíficos escritores entre a segunda metade do século XIX e inícios do século XX. De facto, Teófilo deixou-nos uma obra relevante nos domínios da poesia, história e crítica literária, bem como na historiografia e etnografia, trabalhos que se estenderiam ainda à filosofia e sociologia, à política, à ficção e tradução, cuja produção eclética levaria Ramalho Ortigão a considerar “trabalho de uma geração inteira empreendido no cérebro de um só homem”.

Proveniente de uma família aristocrata açoriana, mas precocemente órfão de mãe com apenas três anos, o rapazinho Teófilo herdaria, aos cinco anos, ainda muito tenro, uma madrasta rígida que o hostilizaria, e consta, que influenciaria de sobremaneira a moldar a sua idiossincrasia algo fechada e agreste.
Quanto à sua formação, o jovem Teófilo frequentaria o Liceu de Ponta Delgada, estudos que conciliaria com a atividade profissional de tipógrafo e a colaboração redatorial em jornais insulares. Porém, apenas concluiria o ensino secundário em Coimbra, onde se instalaria a partir de 1861, matriculando-se de seguida em Direito, curso em que se licenciaria e doutoraria com brilhantismo, às custas de trabalhos de subsistência no âmbito da tradução, recurso a explicações e publicação de poemas e artigos, tarefas que desempenharia

em paralelo com a vida e a luta académica, designadamente no contexto da Questão Coimbrã.
No entanto e não obstante as suas credenciais formativas, não correram bem os seus primeiros concursos à vida profissional. Com efeito, devido aos seus ideais republicanos e positivistas, na esteira de Auguste Comte, seria preterido na assunção da cadeira de Direito Comercial na Academia Politécnica do Porto e, posteriormente, para o cargo de lente da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Acabaria, porém, em 1872, por concorrer e ocupar o cargo de lente da cadeira de Literaturas Modernas, no Curso Superior de Letras, a despeito de a 18 de maio de 1871 ter sido um dos 12 signatários das programadas “Conferências Democráticas do Casino Lisbonense”, que, tempos depois, seriam canceladas pelo regime monárquico.
Efetivamente, após a sua deslocação para Lisboa, e depois do casamento com Maria do Carmo Xavier, do qual nascem três filhos, Teófilo Braga dedica parte substancial da sua vida à escrita e à política. Deste modo, funda e dirige a “Revista Positivista” (1878), torna-se diretor da “Era Nova” (1880), dirige a revista “Revista de Estudos Livres” (1884) e colabora em inúmeras outras publicações periódicas. Concomitantemente, organizaria o tricentenário da morte de Camões e iniciaria a sua ação política, concorrendo como deputado às Cortes da Monarquia Constitucional Portuguesa, integrando as listas dos republicanos federalistas. A sua atividade política leva-o, posteriormente, nos anos 90, ao diretório do Partido Republicano Português e, em 1910, a ser eleito deputado republicano por Lisboa às cortes monárquicas, cargo do qual não tomaria posse, em consequência da queda da monarquia e instauração do regime republicado, em 5 de outubro de 1910.
Entrementes, neste período e no transcurso do Governo Provisório da República Portuguesa, seria nomeado por decreto de 6 de outubro para a presidência, cargo que vem mais tarde a reassumir interinamente, em 1915, após a demissão de Manuel de Arriaga, até ser substituído por Bernardino Machado.
Um presidente que, segundo consta, recusaria honras e ostentações “e andava proletariamente de elétrico, com o guarda-chuva no braço, ou de bengala sem ponteira”.
Faleceria só, no gabinete de trabalho de sua casa, após o falecimento antecipado dos filhos e esposa, vítima de morte súbita.
Hoje, ainda recordamos a sua imagem nas notas de 1.000$00, que circularam entre 1988 e 1997 e, na toponímia vimaranense, na freguesia de S. João de AIRÃO.

Iniciado literariamente com o livro poético “Folhas Verdes” (1859) e desdobrando-se pela poesia, ficção, ensaio, bem como por antologias de recolhas, podemos afirmar, numa perspetiva estritamente literária e em termos globais, que Teófilo Braga, tendo como matriz denominadora comum um ponto de vista nacionalista, enveredou por três orientações basilares:
- a tentativa de elaboração poética de uma história filosófica da humanidade, que os cinco volumes de “Visão dos Tempos”, “Tempestades Sonoras”, ambos em 1864, que sob a influência de Vítor Hugo, Michelet, Hegel e Vico, expõem uma conceção de poesia filosófica e que têm seguimento com “A Ondina do Lago” (1866), “Torrentes” (1869) e “Miragens Seculares” (1884);
- o interesse folclorista, evidenciado na recolha e no estudo de poesias, lendas, mitos e contos populares tradicionais, que, numa primeira fase, se traduz na publicação do “Cancioneiro Popular”, “Romanceiro Geral”, e a “História da Poesia Popular Portuguesa”, em 1867, trabalhos centrados no estudo das origens da literatura portuguesa que, posteriormente, retoma numa segunda fase, em 1883, com a publicação dos “Contos Tradicionais Portugueses” (1883);
- A redação de uma História da Literatura Portuguesa, com especial incidência na poesia popular e na literatura do século XIX.

Assim e concretamente neste âmbito, surgem obras como “História da Poesia Moderna Portuguesa”, em 1869, numa penosa altura em que perde o seu primeiro filho, e nos anos subsequentes, em que perde pesarosamente os dois restantes filhos, daria à estampa a “História da Literatura Portuguesa” (1870), a “História do Teatro Português” (1870/1871) e “Teoria da História da Literatura Portuguesa” (1872), bem como o “Manual da História da Literatura Portuguesa” (1876). Publicações e trabalho porfiado que, apesar dos tempos de amargura que o perseguiriam ao longo desses anos, vem paulatinamente refundindo, recapitulando e atualizando. Estudos a que juntaria ainda figuras da literatura nacional como

“Bocage, sua vida e época literária” (1877),” Camões e o sentimento nacional” (1891), assim como os dois volumes Garrett e as origens do teatro vicentino, patentes nos tomos “Gil Vicente e as origens do teatro português” e “A Escola de Gil Vicente e o desenvolvimento do teatro nacional”, ambos de 1898.
Outrossim e mais tarde, orientaria os seus estudos literários para os autores e obras contemporâneas, legando-nos, entre outros, trabalhos como a “História do Romantismo em Portugal” (1880) e “As Modernas Ideias na Literatura Portuguesa” (1882).
Paralelamente, numa perspetiva multifacetada, escreveria também ficção, iniciando-se com a coletânea “Contos Fantásticos “(1865) e “Viriato” (1904), mas sobretudo inúmeros ensaios, em especial no contexto da filosofia positivista, como “Traços Gerais da Filosofia Positivista” (1887) e “Sistema de Sociologia” (1884).
Todavia, a diversificação investigativa alargar-se-ia ainda à “História da Universidade de Coimbra” (18711902), importante pesquisa que constitui uma síntese da história cultural portuguesa, tendo como centro as instituições pedagógicas e ainda à doutrinação política, como são o caso da “História das Ideias Republicanas em Portugal” (1880) e “Soluções positivas da política portuguesa” (1912)
Realmente, quer pelas suas obras literárias quer pela sua ação pública, em particular no seio do Partido Republicano Português, Teófilo Braga seria o principal representante e ideólogo do pensamento republicano, laico e pequeno-burguês que, várias vezes, se veria forçado a terçar armas com outros contendores, quer do ponto de vista literário e/ou político.
Recorde-se, por exemplo, as contendas com Castilho que, em “Teocracias Literárias” (1865), se insurge diretamente, censurando-o na sua prática poética, “palavrosa, nula de ideias”. Uma crítica a que acrescentaria causticamente: “o Sr. Castilho deve a sua celebridade à infelicidade de ser cego. O que se espera de um cego? Apenas habilidade. É uma celebridade triste porque tem origem na compaixão, e a compaixão fatigase (…)”
Contendas que travaria também com o seu conterrâneo Antero de Quental, no seio do movimento do Cenáculo. Com efeito, a partir de 1872, esboça-se dentro do movimento republicano-socialista uma cisão, que opõe e confronta Antero proudhoniano a Teófilo positivista, com base doutrinal no movimento republicano. Divergências que se estenderiam a propósito da obra “Teoria da História da Literatura Portuguesa”, que Antero critica pela sua perspetiva excessivamente etnológica, inspirada na teoria romântica do génio nacional e popular, que, em seu entendimento, omitiria a repressão exercida por forças estranhas à nacionalidade, em especial a Igreja e a monarquia centralizada.

Disputas intelectuais à parte, Teófilo Braga seria um homem admirado no seu tempo.
Como diria Ramalho Ortigão, um homem “simples, sóbrio, duro, com hábitos de uma austeridade espartana (…), que, vivendo no seu isolamento como Robinson na sua ilha, tem uma única paixão, a paixão prosélita da ciência. Não publica um volume por semana pela razão única de que não há prelos em Portugal que acompanhem a velocidade vertiginosa da sua pena. Escreve de graça, desinteressadamente, em satisfação do seu prazer supremo, o prazer de espalhar ideias”.
Desse prazer, Teófilo Braga legar-nos-ia o prazer de mais de 300 obras de relevante interesse, que podemos (re)ler com prazer. Um simples prazer quanto este simples e patético poema, intitulado “Dobadoira”, transcrito parcialmente, poderá comover:
“Estava à porta assentada, dobando a sua meada
A velhinha;
Lenço branco na cabeça
A madeixa lhe sustinha,
E envolve-a como toalha;
Com que pressa
Sentada à porta trabalha.
O sol doira
Seu cabelo,
Que tem a cor da geada;
Para passar o novelo,
A velhinha
De vez em quando sustinha
A gemente dobadoira
Em que anda branca meada.
(…)
Fica-lhe na mão suspensa
O novelo,
Concentrada não o enleia;
Na órfã netinha pensa! …
Vem-lhe à ideia

Por sua morte:
Só, no mundo! Entregue à sorte!
Pobre neta…
Pesadelo,
Que tanto a velhinha inquieta.
Não ouvindo a dobadoira, Que gemia intermitente, Caindo da mão dormente
O novelo…
Com desvelo,
A neta, cabeça loira,
Vem à porta
Ver o que foi; com susto olha:
Uma lágrima inda molha
A face à velhinha morta”.

Ferreira de Castro
O ano de 1974, há 50 anos, fica indelevelmente marcado pelo 25 de Abril. Nesse ano, porém, faleceria também o escritor Ferreira de Castro que ainda vivenciaria durante escassos 3 meses a Revolução dos Cravos, pela qual tanto lutara.
De facto, Ferreira de Castro seria vítima de um ataque cardiovascular em 5 de junho, que, após cerca de duas semanas de hospitalização, culminaria com o seu falecimento em 29 de junho de 1974. Um passamento que o seu amigo Assis Esperança diria eufemisticamente que “foi uma congestão da revolução. Também se pode morrer de alegria”.

Ferreira de Castro, In Blogue do Sítio do Livro
Efetivamente, como homem de luta pela igualdade social, Ferreira de Castro ainda participaria nesta alegria coletiva da liberdade e da democracia, e desfilaria efusivamente no 1.º de Maio, ao lado de José Gomes Ferreira, gritando “Escrever é lutar! Escrever é lutar”.
Recordar Ferreira de Castro, que entre nós passou bons tempos na estância termal das Caldas das Taipas, localidade onde tem um busto em sua homenagem e que por cá se encontra consagrado na toponímica urbana, é, pois, o propósito fundamental da evocação deste insigne escritor do humanismo social, que nos legou obras consagradas e valiosas, traduzidas em várias línguas.
De facto, como disse José Gomes Ferreira, Presidente da Associação Portuguesa de Escritores, no decurso do elogio fúnebre, em 1974:
“Quando um amigo morre, que nos resta senão tentar ressuscitá-lo?”
Por isso, aqui fica esta tentativa de ressuscitação, nestes 50 anos da sua morte, quer através destas

breves notas, quer sobretudo pelo convite à sua (re)leitura…
Ora, efetivamente, por falar em leitura e por coincidência, nesse mesmo ano de 1974, seria publicado a título póstumo (também há 50 anos), a obra “Os Fragmentos”, que reúne três contos de índole jornalística, uma outra faceta importante deste emérito escritor. Esta obra que integra a “História da Velha Mina”, “Aldeia Nativa” e “Pórtico”, bem como a novela/romance “O Intervalo”, talvez seja um livro menor do autor de “Emigrantes” (1928), “A Selva” (1930), “Terra Fria” (1934) ou “A Lã e a Neve” (1947), entre muitos dos excelentes romances castrianos editados. Porém, ela reflete sagazmente muito do que é Ferreira de Castro e a sua cosmovisão do mundo que, ainda hoje, se mantém atualizada.
Realmente, como ele próprio escreveria na aludida obra “a Humanidade está vivendo um intervalo entre o velho mundo que apodreceu e o novo mundo que nós desejamos e há de vir. É um intervalo terrível de grandes sofrimentos para muitos”.

De facto, “O Intervalo” tem como questão central a luta pelos direitos humanos e dos trabalhadores no sentido de uma sociedade mais justa e igualitária, protagonizada pelo anarco-sindicalista Alexandre Novais, inicialmente em Portugal e posteriormente em Espanha, no decurso da insurreição operária de 1933 e da guerra civil espanhola (1936-1939). Uma luta travada em Sevilha e terras andaluzas, cuja ação alude ainda ao massacre dos camponeses de Casas Viejas (Jerez de la Frontera, Cadiz), às mãos repressivas das autoridades espanholas.
Como é óbvio, uma narrativa matricial da mundivisão castriana, que nos faz pensar nos intervalos dos nossos dias, mais vocacionados para as autocracias e outras “cias” e “ismos” deturpados.
Neste caso concreto, “Fragmentos” e especialmente “O Intervalo” é precedido do título explicativo “Origem do Intervalo”, que pretende dar conta dos motivos deste intervalo de tempo de 50 anos entre a escrita e a publicação: a censura, esse predador faminto sem escrúpulos, que continua por esse mundo fora.
A censura seria de facto um dos combates cruciais de Ferreira de Castro ao longo da sua vida. A censura

que combatera, sem peias, desde a sua eleição para presidente do Sindicato dos Profissionais de Imprensa de Lisboa, em meados dos anos 20 e nas suas várias intervenções no seio do Movimento de Unidade Democrática (MUD). A censura sobre a qual ironicamente diria “tem, porém, uma virtude; é demonstrar-nos quanto vale ser um homem livre, um povo livre”.
Ora, “o Intervalo”, tal como o artigo jornalístico sobre as condições de trabalho nas Minas de S. Domingos, que estava previsto publicar no jornal “O Século”, seriam textos proibidos pela censura do Estado Novo, que somente seriam publicados em 1974, na obra “os Fragmentos”, sob o título “História da Velha Mina”. Uma história que, como diria, “constitui um fragmento das “cancelas cerradas perante a liberdade de pensamento que dificultam, já há muitos anos, os passos espontâneos dos escritores portugueses”.
A transcrição do excerto da “História da Velha Mina” é elucidativa sobre os motivos de intrusão da censura:
“Já o subdiretor da mina de onde se extraía cobre, um dos metais de que se faz dinheiro e na Bolsa de Londres se podia mesmo converter em oiro, entrava irrefletidamente nos paradoxos da sociedade imperante:
Acusa-nos também de pagar salários miseráveis. Não digo que sejam altos. Alguns mineiros ganham diariamente treze escudos, a maioria nove ou dez. Mas em Portugal todo os salários são baixos. E no Inverno, quando os lavradores já não precisam de braços, muitos homens vêm aqui oferecer-se para trabalhar por vinte e cinco tostões apenas (…)
- Sim, tem razão, as casas onde eles vivem não são boas. Mas eu conheço Portugal inteiro e, nas Beiras e em Trás-os-Montes, há muitas piores ainda. E a realidade é que, apesar de tudo, alguns dos homens que saem daqui, em busca de melhores condições de vida, regressam meses ou anos depois e até choram para que os admitamos novamente ao nosso serviço.
Fiquei a olhar, muito calado o inglês. E jamais pude esquecer o minuto noturno, tão denso de problemas de fumo, em que um grupo de mineiros me confirmou, mais tarde, no Sindicato, ser verdade o que ele me dissera, ser verdade que a miséria torna ilimitadas as humilhações dos exploradores perante os que não prosperariam sem eles”
Porém, 50 anos depois da morte de Ferreira de Castro e da eclos.ão do 25 de Abril, torna-se evidente nestes fragmentos que, não obstante alguns avanços, muito há ainda por fazer para dar seguimento pleno ao humanismo social defendido pelo escritor, como se constata em mais estes cíclicos tempos de intervalo entre o velho e o novo mundo. Igualmente, como muito há ainda a fazer para derrubar a censura que

prossegue pelo mundo fora, muitas vezes ludibriando “ismos” e afins.
No entanto, recorde-se que após a sua morte, Ferreira de Castro jamais seria esquecido em Guimarães, como o demonstra, em 1993, a sua evocação durante o XII Encontro de Imprensa Regional do Norte, promovido pelo Gabinete de Imprensa de Guimarães, presidido por Luís Caldas e posteriormente, em 2018, em exposições na Universidade do Minho, aquando dos 120 anos do seu nascimento.
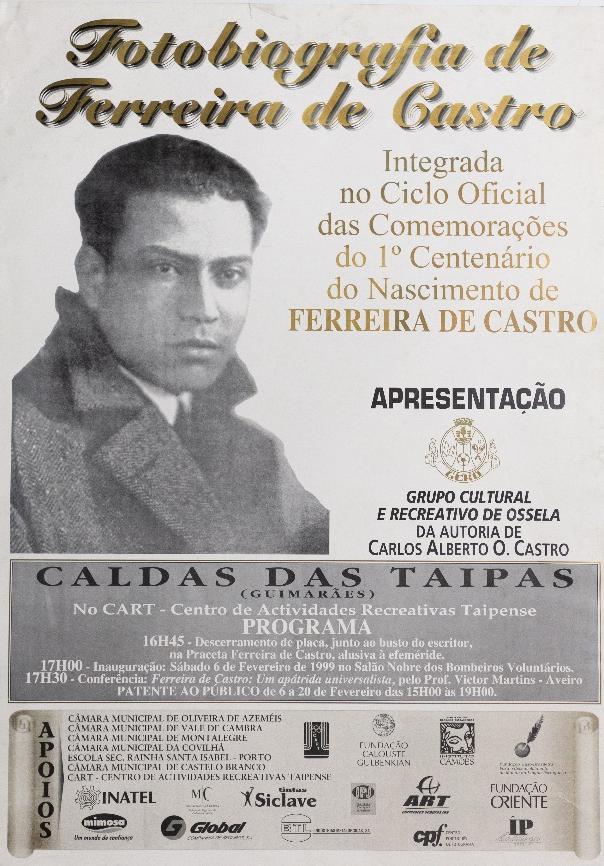

Comemorações do Centenário do nascimento de Ferreira de Castro, organização conjunta do Grupo Cultural e Recreativo de Ossela e do Centro Actividades Recreativas das Taipas, 1999. Personalidades presentes (da esquerda para a direita): José Carlos (Correia) Rego, Presidente Direcção GCRO (Grupo Cultural e Recreativo de Ossela); Manuel António, Secretário Cultural do CART; Carlos Marques, Presidente Direcção do CART, Victor Martins, Professor castriano; Francisca Abreu, Vereadora da Cultura CMG; Joaquim Santos Simões, amigo de Ferreira de Castro; Carlos Castro, Autor da Fotobiografia de Ferreira de Castro.

Igualmente, em 1999, há 25 anos atrás, no decurso das comemorações do centenário do seu nascimento. De facto, nesse ano, o escritor seria evocado nas Caldas das Taipas, no decurso da apresentação da "Fotobiografia de Ferreira de Castro" de autoria de Carlos Castro, numa cerimónia pública em que participaram, entre outros, o Presidente do Grupo Cultural e Recreativo de Ossela, José Carlos Rego e do Centro de Atividades Recreativas das Taipas, Carlos Marques, bem como de Francisca Abreu, vereadora da Câmara Municipal de Guimarães, e J. Santos Simões, amigo e admirador de sempre e um dos responsáveis, em nome do Círculo de Arte e Recreio, pela implantação na vila taipense, em 17 de Abril de 1971, de um busto do

escritor, um assíduo frequentador das termas locais.
Ressuscitar Ferreira de Castro é, por isso, uma homenagem e um tributo evocativo a um escritor de combate social genuíno e simultaneamente, sem chavões, consciencializar que, pela sua (re)leitura, a luta continua…

O romance da raposa, de mestre Aquilino Ribeiro
Neste ano de 2024 perfazem 100 anos que nasceu Salta-Pocinhas, a raposeta fagueira e lambisqueira, astuta e pintalegreta, senhora de muita treta, protagonista da obra infantojuvenil “O Romance da Raposa”, de mestre Aquilino Ribeiro (1885-1963).
Ora, esta fábula bucólica, de requintado virtuosismo estilístico, é o resultado do amor filial, uma vez que se constitui como uma oferta do autor-pai Aquilino ao seu filho primogénito Aníbal, com 10 anos, como pequena prenda deixada no sapatinho de Natal, que a dedicatória dilucida:
“Aí fica, meu homem, no teu sapatinho de Natal, esta pequena prenda. Aceita-a com os meus beijos de pai, que ao Menino Jesus vou pedir perdão do pecado, pois a raposa é matreira, embusteira, ratoneira, e ele apenas costuma brincar com pombas brancas e um branco inocente cordeirinho”.
Deste modo, subjacente na dedicatória, de forma algo palimpséstica, todo um programa que indicia implicitamente uma certa recusa por objetivos exclusivamente morigeradores, em detrimento de um tom e propósito de sentido mais lúdico, que, dando voz à autenticidade do mundo animal, refuta também, de sobremaneira, um certo tipo de maravilhoso tradicional de fadas e duendes, gigantones e princesinhas, quejandos e afins.

De facto, há nesta história da Raposa Salta-Pocinhas, que tudo faz para ter a barriga cheia, um certo realismo naturalista, que, como escreve Óscar Lopes se circunscreve “aquilo que se chama naturalismo Renascentista “.
Efetivamente, ainda que deite mãos à natureza, ao reino animal e à tradição fabulística, mestre Aquilino ensaia nesta tessitura narrativa a procura da diferença na literatura infantojuvenil, que nas entrelinhas nos lega mensagens de relevante atualidade, que fazem parte da sua própria idiossincrasia, conjugando inovação e rotura. Desde logo, a mensagem ecológica, presente na crítica à intervenção do bicho-homem e na prepotência e hipocrisia social, na altura vigente.

As passagens que se transcrevem são elucidativas:
“Quando nasci, a dinastia reinante não era a que um seu augusto avô naturalmente iniciou, mas a dos ursos. Sou desses tempos … em que não havia armas de fogo e os bichos dançavam a galharda, na clareira dos bosques, ao luar. (…)
Ora, um bicho de vista penetrante, ao qual saem das orelhas pincéis de barbear, subiu acima de um penedinho. Era um lince, também lobo-cerval que, de batido e perseguido, caçado e fuzilado, vai rareando no bosque”.
E, que hoje, diremos nós, é bicho protegido na Reserva Natural da Serra da Malcata pelo bicho-homem que em tempos o dizimou…
(…) “O bicho-homem é aquele bicho de duas pernas que parece que não tem medo de nada e tem medo de tudo, que quer saber tudo e não sabe nada, e por isso é mau, cruel e caprichoso Inferior a nós na corrida, no faro e no ardil, inventou para nos combater armas de fogo, as ratoeiras de ferro e os cães ensinados”.
Porém e para além dos recados das entrelinhas, o “Romance da Raposa” é também uma deliciosa história sobre a existência animal que, após a sua adolescência, é obrigada pelos pais a tirar proveito da hipocrisia e velhacaria, elementos reguladores da vida em sociedade e forçada a fazer-se à vida, trilhando o seu próprio caminho:
“Salta-Pocinhas, minha filha, tens de procurar outro ofício. Comer e dormir, dormir e comer, e comer também eu queria. Olé! Se ainda o não sabes, fica sabendo: quem não trabuca não manduca”.

A história da vida de Salta-Pocinhas desenrola-se assim em ações ardilosas no sentido de assegurar pão para a boca e a sobrevivência no quotidiano, trabucando para manducar, mostrando a sua esperteza perante outros animais como o lobo D. Brutamontes e o texugo D. Salamurdo, fiel vassalo do lobo, ou mesmo ante o

bicho-homem.
Deste modo, entre outras maroscas e tramoias, insinua-se como curandeira para curar a dor de dentes do lobo, aproveitando-se da trapaça para se livrar do texugo, saciar a fome e roubar alimentos armazenados pelo lobo que se ausentara.
Patranhas a que nem sequer escapa o bicho-homem que julga saber tudo:
“ - Escuta: se te prestar um bom serviço, que paga me dás?
- Dou-te um tiro na primeira ocasião que te encontre.
- Bem sei, mas eu cá espero morrer de velha, que nos currais não me apanhas tu. Diz-me, agora, ó ingrato, já contaste a manada? Não falta nenhuma cabeça? Pois eu venho-te avisar que faltam muitos cavalos e, olha, estão a batalhar com os lobos (…)
O maioral chamou os cães e os pastores todos; pegaram em mocas e espingardas, e, a cavalo nas éguas criadeiras, abalaram à rédea solta.
Quando o rumor da tropeada se esvaiu ao longe, a raposa desceu o cabecinho; e, sorrateiramente, arteira, lambisqueira, meteu às abegoarias e deitou a unha ao pato mais gordo e palordo que refocilava no charco”.
Mas o melhor é sair da toca da preguiça e ler o que Salta-Pocinhas tem para contar, com a riqueza de linguagem e estilo que só uma raposa seria capaz …
Depois, é também possível aceder à adaptação da obra em Banda Desenhada, de autoria de Artur Correia, ou à série televisiva da RPT 1, transmitida nos anos 1988/1989, que engloba 6 canções e diálogos de Maria Alberta Menéres. Mas também, a várias dramatizações do conto, algumas musicadas.
Com efeito, Salta-Pocinhas tornou-se quase tão VIP como Cristiano Ronaldo
Outrossim, aproveitar o ensejo para (re)ler outras deliciosas obras do autor, designadamente da sua literatura infantil como “Arca de Noé – III”, “O Livro de Marianinha”, ou “Peregrinação de Fernão Mendes Pinto – Aventuras Extraordinárias de um português no Oriente”.

Prémio Pessoa
JOSÉ TOLENTINO DE MENDONÇA, o cardeal e poeta madeirense, nascido no Machico em 15 de dezembro de 1965, é o galardoado da 37.ª edição do Prémio Pessoa 2023, uma iniciativa do semanário Expresso, com o patrocínio da Caixa Geral de Depósitos, que distingue anualmente, ainda em vida, uma personalidade relevante da sociedade portuguesa. Um prémio no valor de 60 mil euros que desde logo o cardeal-poeta fez questão em declarar que “será doado a uma instituição de solidariedade portuguesa”.


Com efeito, amigo pessoal do Papa Francisco, assumindo atualmente na Cúria Romana funções de prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação da Cúria Romana, Tolentino de Mendonça, licenciar-se-ia em Teologia na Universidade Católica Portuguesa em 1989 e logo no ano seguinte seria ordenado padre da Diocese do Funchal. Entretanto, na Universidade Católica, fez-se doutor em Teologia Bíblica, instituição onde foi capelão, professor e vice-reitor. Exerceu ainda funções pastorais na paróquia de Santa Isabel e como reitor da Capela de Nossa Senhora da Bonanza,

conhecida como Capela do Rato; e, já no decurso de 2004, seria nomeado diretor do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura, cargo criado pela Conferência Episcopal Portuguesa.
Porém, para este filho de pescador, que passou a sua infância em Lobito, em Angola, até à Revolução dos Cravos e aos seus 9 anos, Roma seria a etapa seguinte. Com efeito, mais tarde, concretamente em 2011 seria nomeado pelo papa Bento XVI como consultor do Conselho Pontifical e posteriormente reconduzido pelo Papa Francisco, em 2016, tendo sido nomeado cardeal em 2019. Assume, então, a Igreja romana dos Santos Domingos e Sisto e vários outros cargos, designadamente de arquivista e bibliotecário do Vaticano, bem como membro da Congregação para a Evangelização dos Povos (2020) e da Congregação para a Causa dos Santos (2022), que acompanha os processos de beatificação e canonização dos candidatos à santidade.
Teólogo e académico, homem de diálogo e conceituado poeta, como gosta de ser identificado, Tolentino, segundo o júri do Prémio Pessoa “além das suas funções eclesiásticas e pastorais, tem-se destacado no ensino universitário, no ensaio de reflexão teológica e filosófica e na poesia”.
De facto, lê-se ainda na ata do júri
“(…) ele protagoniza uma conceção integradora, unificadora e universal da força espiritual da literatura, que lhe serve de guia desde sempre. Foi neste sentido que introduziu a poesia de Fernando Pessoa, entre outros escritores, nos Exercícios Espirituais do Retiro de Quaresma do Papa e da Cúria Romana”. Realmente, como acrescentaria Francisco Pinto Balsemão, aquando do anúncio do prémio, Tolentino é um homem que “projeta uma visão do mundo norteada por uma espiritualidade que pretende acolher, compreender e transcender as dilacerações, conflitos e sofrimentos da Humanidade” em todos os domínios da sua “notável e diversificada atividade intelectual”.

O Papa nomeou o cardeal português D. José Tolentino Mendonça como prefeito do novo Dicastério para a Cultura e a Educação (26/09/2022) Agência ECCLESIA.
Na realidade, enquanto poeta e ensaísta, Tolentino de Mendonça (TM), como cita o Jornal de Notícias

de 15 de dezembro de 2023, “tem acumulado prémios e leitores, cativados por uma escrita onde a economia de meios caminha a par com a profundidade e a busca de um absoluto”. Uma escrita que assume o silêncio como um dos seus desígnios, como afirmaria no encontro literário Correntes d’ Escritas da Póvoa de Varzim, ao confessar que gostaria de ver o silêncio ser classificado como Património Imaterial da Humanidade, mas que ainda este ano fez ouvir a sua voz na Capela Sistina perante cerca de 200 artistas, escritores, compositores, músicos, atores e arquitetos de todo o mundo, entre quais nomes da língua portuguesa como Caetano Veloso, Pedro Abrunhosa, joana Vasconcelos, Gonçalo M. Tavares, José Luís Peixoto e Vhils.
Quanto à sua produção literária, iniciou-se em 1990 com a obra de poesia “Os dias contados”, (curiosamente coincidente com a sua ordenação sacerdotal), livro parcialmente influenciado pelo seu conterrâneo Herberto Hélder, que descobriu aos 16 anos. Aliás, como contaria em entrevista ao Público em 2012, uma descoberta que “foi como se pudesse ouvir a música do mundo. Sentir que todas as coisas estavam vivas”.
Efetivamente, seria na sua adolescência, já no seminário, que Tolentino escreveria o seu primeiro poema, intitulado “A Infância de Herberto Hélder”. Referência a que o jovem poeta ajunta ainda os nomes de Ruy Belo, Eugénio de Andrade, Sophia de Mello Breyner, Pasolini e a escritora norte-americana Flannery 0’Conor. Uma iniciação poética que passaria ainda pela publicação de textos no antigo suplemento literário do Diário de Notícias sob o pseudónimo Tiago Hulssen.
Todavia, marcante e determinante, anteriormente, seria ainda a avó materna Maria Matias, uma contadora de histórias que sabia de cor alguns romances orais, sobre a qual o cardeal-poeta diria: “foi a minha primeira biblioteca (…) A minha avó que não sabia ler nem escrever”.
O poema “A Mulher Desconhecida” recorda essa avó: “É muito bela esta mulher desconhecida que me olha longamente e repetidas vezes se interessa pelo meu nome
Eu não sei mas nos curtos instantes de uma manhã ela percorreu florestas ásperas estações mais longas que as nossas a imposição temível do que desaparece

e se pergunta tantas vezes o meu nome é porque no corpo que pensa aquela luta arcaica, desmedida se cravou: um esquecimento magnífico repara a ferida irreparável do doce amor”
In, “Baldios”
Porém, Tolentino de Mendonça, autor de “Rezar de olhos abertos” (2020), ou do “Elogio da Sede” (2018), este último uma espécie de guião da semana de reflexões espirituais da Cúria Romana, prefaciados pelo Papa Francisco, bem como outros livros enquadrados no âmbito da espiritualidade católica para os tempos de crise, é autor de mais de seis dezenas de títulos publicados. Com efeito, no decurso e transcurso da sua caminhada de “Peregrino da Esperança” (2023), assim se intitula o seu último trabalho, obra antecedida por “Metamorfose Necessária” (2022), um ensaio sobre a redescoberta do pensamento de S. Paulo, Tolentino revela sempre um carisma e vitalidade de um homem de fé, bom e humanista que perpassa em toda a sua ensaística.
Assim, do ensaio à poesia, Tolentino pretende facilitar o diálogo igreja-cultura, ao ponto de o seu editor na Quetzal, Francisco José Viegas, considerar que “talvez a Igreja tenha encontrado (nele) uma voz que consegue dar voz às inquietações presentes daquele documento intitulado Onde está o teu Deus? (2004) e onde se enumeravam os sinais da crise de fé e da religiosidade”.
Mas Tolentino, paralelamente à sua veia poética e reflexões teológicas e filosóficas, seria também autor de crónicas. De facto, durante vários anos, o cardeal-escritor escreveu no Expresso diversas crónicas, mais tarde reunidas no livro “Que Coisa são as Nuvens” (2015).
Realmente, uma diversidade e notável produção intelectual e literária que lhe valeriam a atribuição de diversos reconhecimentos, como o Grande Prémio de Poesia Teixeira de Pascoaes, bem como os prémios da Fundação Inês de Castro, D. Dinis e Europeu Helena Vaz da Silva para a Divulgação do Património Cultural e ainda o Prémio de Crónica da Associação Portuguesa de Escritores, entre outros. Distinções às quais aditaria as honras oficiais da Ordem do Infante D. Henrique, Ordem Militar de Santiago e Espada e a indigitação para presidência das comemorações do 10 de Junho, em 2020.
Arauto e mensageiro da palavra e da esperança, homem de diálogo aberto, como o documenta e relembra o debate sobre a Bíblia com José Saramago, moderado pelo jornalista José Pedro Castanheira, em 2009,

a propósito do saramaguiano livro “Caim”, Tolentino não se furta ao contraditório e reconhece, que o cristianismo carece de “credibilidade existencial“ e “credibilidade de comunicação”, porque, como já disse, “é preciso saber escutar o silêncio do mundo” e comunicar com veracidade.
Concretamente e quanto à sua poesia, reunida no volume “A Noite abre meus olhos”, editado pela Assírio & Alvim, ressalta acima de tudo a ideia de paz contra a voragem do barulho, que, conciliando a comunhão entre forma e assunto, se evidencia claramente nas quebras de versos, que acentuam a pausa e a calma. O poema “Se me puderes ouvir” é um bom exemplo dessas linhas de leitura deste poeta da paz, sossego e brandura:
“O poder ainda puro das tuas mãos é mesmo agora o que mais me comove descobrem devagar um destino que pesa e não passa por aqui
à mesa do café trocamos palavras que trazem harmonia tantas vezes negadas: aquilo que nem ao vento sequer segredamos
mas se hoje me puderes ouvir recomeça, medita numa viagem longa ou num amor talvez o mais belo”.


De destacar ainda, na sua criação poética, três estrofes imortalizadas presentes na sua obra “A Papoila e o Monge” (2013), tipo de poesia haiku, enquanto, à maneira japonesa, facultam retratos perfeitos da realidade captada:
«Silêncio: contemplar a neve até confundir-se com ela»
«Podes interrogar a papoila mas a papoila nada responde»
«As nuvens hoje parecem monges que tomam o chá em silêncio»
Em síntese, Tolentino encarna assim com sua escrita (ensaística e/ou poética) a tentativa do diálogo entre cristãos e interlocutores aparentemente irreconciliáveis, assumindo-se ainda como uma das vozes fundamentais contemporâneas da poesia portuguesa, alicerçada numa mundivisão caboucada na espiritualidade, que lhe segue de guia e fundamentos.
De facto, assim é o poema, uma estação impossível da verdade:
“O poema exprime-se em frases entrecortadas linhas de corrente, irrisórias explosões mas espera qualquer coisa suficientemente brilhante qualquer coisa para lá dos caudais escoados que no alto erga a estação impossível esse momento em que a língua dos homens não possa mais mentir”.


In Memoriam de Nuno Júdice
No dia 17 de março de 2024 faleceu, vítima de cancro, NUNO Manuel Gonçalves JÚDICE Glória, nascido em Mexilhoeira Grande (Portimão), em 29 de abril de 1949.
Licenciado em Filologia Românica pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e posteriormente doutorado pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da mesma Universidade, com a dissertação da tese
“O espaço do conto no texto medieval”, o professor universitário Nuno Júdice (NJ) foi um dos mais notáveis poetas portugueses contemporâneos. Todavia, além da poesia estendeu a sua criação literária à ficção, ensaio, teatro e edições críticas e antologias, no âmbito da Teoria da Literatura e Literatura Portuguesa, legando-nos cerca de 80 títulos. Ademais, distinguiu-se ainda no âmbito da tradução, nomeadamente de autores como o francês Pierre Corneille e a norte-americana Emily Dickinson, cujas leituras o influenciariam, tal como T.S. Eliot e Ezra Pound, autores importantes para a sua criação imagística. Aliás, a poesia de Nuno Júdice (como ele próprio o reconhece na entrevista ao Jornal de Letras de 9 de Março de 1922, aquando da evocação dos 50 anos do seu primeiro livro), pretende, como afirma, “trazer a revolução para o plano da própria invenção poética (…) introduzindo temas que vinham na sequência de poetas que me marcaram: Jorge de Sena, com a relação entre o poema e a pintura, Ruy Belo, com a poesia e a história enquanto fonte de mitos, Sophia com a importância da dicção para sentir a música do poema”.


Influências que se estendem (ainda) a outros poetas próximos como Carlos de Oliveira, Herberto Hélder, António Ramos Rosa e, mais tarde, Eugénio de Andrade e David da Mourão-Ferreira. Obviamente uma poesia que bebeu na sua atividade docente das águas da fonte de Hipocrene, onde ensinou e aprendeu a vivenciar a poesia, em especial através dos poetas simbolistas franceses e os modernistas portugueses, em especial Álvaro de Campos, bem como Antero de Quental e Florbela Espanca. Referências poéticas às quais se ajuntam os companheiros de tertúlia no café Montecarlo, entre os quais se contam José Gomes Ferreira, Carlos de Oliveira, Augusto Abeleira e Alexandre Babo.
No fundo, um fazer poético alicerçado e sustentado em vários pilares, cujos momentos determinantes passam inicialmente pela noção de poema como marca fundadora da sua poética e pela partilha dos mitos com um regresso a tradições da poesia de António Nobre e Camilo Pessanha. No entanto, um percurso de 50 anos que posteriormente passaria pela “Meditação sobre ruínas” (1995), como diálogo com os clássicos, obra que seria premiada pela Associação Portuguesa de Escritores, bem como pela “Teoria Geral do Sentimento” (1999), como primeiro momento em que a viagem e a pintura se articulam; e ainda por “Pedro lembrando Inês” (2002), como a descoberta da intensidade do sentimento no poema. Etapas poéticas que, na sua obra mais recente, se afasta um pouco da impessoalidade da primeira fase, ainda que sem perder a tendência reflexiva antecedente.
Paralelamente, é de relevar ainda o seu papel cultural como diretor da revista literária “Tabacaria” (1996-1999), editada pela Casa Fernando Pessoa, bem como enquanto diretor da revista Colóquio-Letras, desde 2009. Igualmente, destacar-se-ia ainda como organizador da Semana Europeia de Poesia, no âmbito da Capital Europeia da Cultura, em 1994, ocorrida em Lisboa. Atividades cívicas a que ajuntaria as funções de comissário português na 49.ª Feira do Livro de Frankfurt, em 1997, e de conselheiro cultural da embaixada de Portugal, em Paris (1997-2004), e de diretor do Instituto Camões na capital francesa. Aliás, NJ tem publicado em França a tradução da antologia “Um chant dans l’épaisseur du temps”, na prestigiada coleção “Poésie” Gallimard e ainda o livro de divulgação da literatura portuguesa do século XX, intitulado “Voyage dans un siècle de littérature portugaise”.
Porém, literariamente falando, a estreia de Nuno Júdice ocorreria em 1972, com a publicação do livro “A Noção do Poema”, na célebre coleção dos Cadernos D. Quixote, dirigida por Snu Abecassis, não obstante muitos dos seus poemas iniciais já haverem sido publicados no Diário de Lisboa Juvenil e outros jornais e revistas. Um livro inicial que indicia as linhas estéticas do poeta, que curiosamente coincide com outras

opções de vida, como o seu casamento e nascimento da primeira filha, assim como a tentativa de início da carreira jornalística na revista Vida Mundial, que seria preterida em prol das funções docentes, inicialmente exercida no ensino secundário e, posteriormente, na Universidade Nova de Lisboa.
Ora, logo na primeira obra, Júdice afirma a independência da poesia e a sua autossuficiência, bem como a sua demarcação da militância neorrealista. Publicação inicial à qual se seguem, entre outras, “O Mecanismo Romântico da Fragmentação”, distinguida com o Prémio de Poesia Pablo Neruda, (1975), “Lira de Líquen”, que recebeu o Prémio PEN Clube Português (1985), bem como “As regras da Perspetiva”, galardoada com o Prémio D. Dinis, da Casa de Mateus (1990). Além disso, um autor abundantemente traduzido, que se saldaria (ainda), a nível internacional, na conquista do Prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-Americana (2013), e o Prémio Rosália de Castro, do PEN Galiza (2018), entre outros. E, novamente, a nível interno, a distinção da Associação Portuguesa de Escritores com o Grande Prémio da Poesia Associação Portuguesa de Escritores (2021), pelo livro “O Regresso de um cenário campestre”.
Como é óbvio e decorrente do seu eminente papel cívico, em especial no mundo cultural, Nuno Júdice seria ainda condecorado com o grau de Oficial da Ordem Militar de Santiago e Espada, a 10 de junho de 1972, e, posteriormente, em 7 de junho de 2013 foi elevado a Grande Oficial da mesma Ordem.
Quanto à sua poesia, sente-se, sobretudo, a representação do contemporâneo, designadamente os factos do quotidiano e da rotina, que concede um pendor narrativo aos seus poemas e as figurações do poeta que reflete sobre o seu próprio processo criativo. Características poéticas a que alia sapientemente um diálogo com a tradição literária, em especial com o romantismo e o simbolismo, a que acresce do ponto de vista da arte poética, a apresentação do poema como uma forma de conhecimento e fronteira ténue entre aquilo que é dito e o modo como é interpretado, com evidentes proximidades entre a poesia e a prosa. Deste modo, uma linguagem, estilo e estrutura com marcas de narratividade e uma liberdade a nível estrófico, rimático e métrico, em que se salienta a presença do verso longo, o recurso a paisagens marítimas, portuárias e variadas formas da natureza.
O poema “Um Amor”, alusivo ao desgosto e infelicidade amorosa no espaço citadino noturno, caracterizado pela agitação, melancolia e nostalgia, resultante da perda do amor evocado e da separação, é elucidativo de algumas dessas marcas poéticas enunciadas:
“Aproximei-me de ti; e tu, pegando-me na mão puxaste-me para os teus olhos

transparentes como o fundo do mar para os afogados. Depois, na rua, ainda apanhámos o crepúsculo.
As luzes acendiam-se nos autocarros; um ar diferente inundava a cidade. Sentei-me nos degraus do cais; em silêncio.
Lembro-me do som dos teus passos, uma respiração apressada, ou um princípio de lágrimas, e a figura luminosa, atravessando a praça até desaparecer. Ainda ali fiquei algum tempo, isto é, o tempo suficiente para me aperceber de que, sem estares ali, continuavas a meu lado. E ainda hoje me acompanha essa doente sensação que me deixaste como amada recordação”.
In, “A Partilha dos Mitos”
De facto, uma nova forma de escrever poesia. No entanto, uma poesia que, a partir da década 90, sem perder as referências iniciais, quer em temas quer no contexto do seu universo simbólico, como as coletâneas “O Movimento do Mundo” (1996), “A Fonte da Vida” (1997) ou a edição bilingue “Linhas de Água” (2000) deixam transparecer, ousa enveredar por uma maior depuração, que passa pela construção de poemas mais breves, numa linguagem mais despojada, na escolha de formas mais tradicionais como o soneto. “Uma noite, quando a noite acabava, contei cada estrada no céu dos teus olhos; e nessa noite em que nenhuns astros brilhavam deste-me sóis e planetas aos molhos.
Nessa noite, que nenhum cometa incendiou, fizemos a mais longa viagem do amor; no teu corpo, onde o meu olhar encalhou, fiz o caminho de náufrago e navegador.

Tu és a filha que todos desejaram a lagoa negra onde sonhei mergulhar e as lentas contas que os dedos contaram
por entre cabelos suspensos ao ar nessa noite em que não houve madrugada desfiando um terço sem deus nem tabuada”
In, “Rimas e Contas”
Porém, um percurso poético que mantém a sua essencialidade, embora vá amadurecendo com o tempo. Mas, como ele próprio diria, uma poética imagética e imaginosa:
“Se eu quisesse falar das tarefas da poesia/talvez começasse por compará-la com o que/se tem de fazer a uma janela quando os vidros /estão sujos de um pó de muitos anos de vento/e abandonados. Então passo o pano da metáfora/por esse vidro, mas em vez de o limpar ainda/acrescento ao pó as imagens que vinham agarradas ao pano”.
Com efeito, como corroboraria numa entrevista ao semanário Expresso, em 2011, o que está na origem do poema é uma imagem, sendo a poesia uma “coisa visual (…) que pode ser um quadro, um céu, uma nuvem, um pássaro. Coisas concretas. E dessa imagem nasce o primeiro verso, que me pode levar a situações que nada têm a ver com o ponto de partida”.
De facto, como escreve Pedro Sobral, diretor-geral do grupo Leya, um vate que “trouxe uma nova forma de escrever poesia durante todos estes anos”, que o poeta Luís Castro Mendes considera “muito original, desligado das correntes literárias, muito consistente e coerente”, que sabe usar “sempre, sempre uma ironia extraordinária, sempre numa distância irónica face ao que ele próprio escrevia”.
Em súmula, um autor dos mais destacados e prolíficos das nossas letras, profusamente traduzido e premiado, cuja obra pode genericamente ser lida na sua “Antologia Pessoal” (2022), que percorre cerca de 40 livros, ou até ouvida no álbum de José Mário Branco, “Resistir é vencer” (2004), que interpreta musicalmente o poema “A vida rompeu”, cujo tema também faz parte da peça de teatro “A morte do palhaço”, de Raul Brandão.
Um poeta a suscitar agradáveis leituras e a ressuscitar nos nossos olhos…

In Memoriam de Eugénio Lisboa
Ensaísta, crítico literário e poeta, EUGÉNIO Almeida LISBOA (1930-2024) foi mais um dos intelectuais portugueses que este ano desapareceu na curva da estrada e apenas passou a ser visto por aquilo que nos deixou. Um legado que passa por obras de ensaio sobre o seu amigo José Régio, acerca do qual é um especialista, entre as quais “José Régio. Antologia, Nota Biográfica e Estudo” (1957), ou “José Régio. A Obra e o Homem” (1976). Publicações a que ajuntaria “Poesia Portuguesa: do Orpheu ao Neo-realismo” (1980), o “O Segundo Modernismo em Portugal“ e ”Jorge de Sena. A Obra e o Homem”, ambas datadas de 1984, bem como “Crónica dos Anos da Peste” (1973-1975), uma das suas obras mais marcantes.
No entanto, na sua vasta bibliografia, entre 24 livros de ensaio e crítica, constam ainda sete de memórias e diários, alguns deles dedicados à sua companheira Maria Antonieta, falecida em 2016. Mas outrossim, publicações de criação poética, iniciada com “A Matéria Intensa” (1985), que foi galardoada com o Prémio Cidade de Lisboa, que recentemente seria reiniciada com a edição de “Poemas em Tempos de Peste” (2020), e já em 2024 com os títulos

“Poemas em Tempo de Guerra Suja” e “Soneto - Modo de Usar”. Um espólio literário valioso que seria doado à Biblioteca Nacional de Portugal.
Quanto à sua poesia, Eugénio Lisboa senta à sua mesa lírica os grandes e as preocupações do mundo, servindo pratos frios ou requentados e enfrentando pessoas e problemas com a faca e garfo da luta interventiva da palavra. São o caso de Trump (“Que chatice se ele ficasse/no governo e nos lixasse”), ou Christine Lagarde (“acha que os velhos vivem demais/pra que a economia se resguarde/há que apressar ritos finais”). Mas também os tempos da pandemia (“lixe-se a melancolia/refúgio de quem não luta/e combata-se, dia a

dia/o vírus filho da puta”). Uma linguagem de tom vicentino que por vezes é mesmo de teor escatológico, como neste mimo à política nacional: “Fala o CHEGA como bufa/não conhece outro falar/quando tenta uma chufa/fá-lo como a evacuar”.
Efetivamente, uma poesia de cunho satírico, de escárnio e maldizer, mas também de combate e indignação, que de forma acutilante denuncia a guerra como é evidente em “Poemas em Tempo de Guerra Suja”: “Por todo o lado a morte em vez da vida por todo o lado o nada em vez do tudo, por todo o lado a vida invertida e o rasto do monstro chavelhudo”
“Agora mata-se mais, mais depressa mata-se mulher, velho e criança: distinguir quem se mata não interessa É só perder tempo enquanto se avança”.
Denúncias que com virulência estende a alguns líderes mundiais, como Putin, que claramente distingue do povo russo:
“Heil, Putine, que bruxa pariu, em noite assombrada de segredos, feitiços e mezinhas, e previu, naquele monstro, só medos e enredos.
Heil, Putine, aborto malcheiroso. cozido no enxofre do Inferno, em frenético coito ardiloso, fazendo do planeta longo inverno.
Heil, ó filho da coita fedorenta lambida por demónio malformado, farejando ruínas com as ventas
sujas de beber o famigerado sangue dos que a vida já roubou, feliz por ter feito quanto almejado”.

“Que diria Turguenév ou o suave Tchecov daquele país da neve, do século dezanove? Um libertou os escravos e o outro consolou os aflitos e os agravos a quem tudo ensinou. Que diriam estes russos destes seus irmãos de hoje, mais parecido com ursos, atacando quem não foge…”
Porém, além de ensaísta e poeta, Eugénio Lisboa, licenciado em Engenharia Eletrotécnica no Instituto Superior Técnico, foi também um homem de ação e cultura, que profissionalmente exerceu cargos de gestão no setor petrolífero e funções diplomáticas como conselheiro cultural na Embaixada de Portugal em Londres; e posteriormente presidiu à Comissão Nacional da UNESCO. Ademais, foi docente universitário de Literatura Portuguesa em Lourenço Marques, onde nasceu, assim como em Pretória e Estocolmo e professor catedrático na Universidade de Aveiro. Uma vida que passaria também por imensos trabalhos radiofónicos e colaborações jornalísticas nos mais prestigiados jornais e revistas, entre os quais o “Jornal de Letras”, “Diário Popular”, “Ler”, “O Tempo e o Modo” e “Colóquio-Letras”. Trabalhos que, muitas das vezes, devido à censura, publicaria sob os pseudónimos de Armando Vieira de Sá, John Land e Lapiro da Fonseca.
Paralelamente foi também um dos coordenadores do “Dicionário Cronológico de Autores Portugueses – Base de Dados de Autores Portugueses”, da responsabilidade da Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) que, sobre ele, apresenta a seguinte entrada: “Espírito atento e sulfuroso. Autor de um ensaísmo informado que não abdica de clareza e do fair play, Eugénio Lisboa tem sido, ao arrepio das modas e conveniências, um leitor empenhado e provocante de autores pouco amáveis (Henry de Montherlant, Régio, Reinaldo Ferreira, Sena, Rui Knopfli, para citar apenas os casos de dedicação militante). Foi também, nos anos 60 e 70, um desassombrado crítico das literaturas africanas de expressão portuguesa”.
Eugénio Lisboa foi também membro da Academia das Ciências de Lisboa, na Classe de Letras e foi agraciado com os graus de Oficial da Ordem do Infante D. Henrique (1980), Comendador da Ordem de Mérito

(1993) e Comendador da Antiga, Nobilíssima e Esclarecida Ordem Militar de Sant’Iago da Espada, do Mérito
Científico, Literário e Artístico (2019).
Acrescente-se que em seu nome existe o Prémio Imprensa Nacional/Eugénio Lisboa, criado em2017 pela Imprensa Nacional Casa da Moeda, numa parceria com o Camões – Centro Cultural Português em Maputo.
“Soneto, modo de usar”, seria o seu último trabalho, chegado às livrarias neste mês de Abril. Aqui ficam para a posterioridade, dois modos de usar o soneto:
“Um livro torna-me mais livre
Um livro abre-me imensas portas.
Antes do livro, era semilivre
Sem livro, as portas estavam tortas
e não abriam. Mas os livros abrem portas, mesmo se torta, porque sabem endireitar tudo o que está torto e ressuscitar tudo o que está morto.
Porque o livro tem vida e saber e, muitas vezes, tem até sabor. O saber dá-nos imenso poder
e o sabor dá-nos muito prazer!
O livro sabe, pode e contenta, condimentado com sal e pimenta!”
“Use o soneto para dizer amor.
Use o soneto para odiar.
Use-o também para cozinhar
Use-o para abanar o torpor.
E também serve para limpar nódoas. quando ele tomba no nosso pano e ali causa não pequeno dano:
O soneto, serve, então, de antinódoa!

O soneto presta-se a ir à guerra, pra esborrachar as ventas ao tirano e afocinhá-lo, com força, na terra
Quando o tirano se põe ufano. então o soneto caga-lhe em cima, com gosto e porreiríssima rima!”
Poemas com humor e sensibilidade, geralmente marcados por um lirismo sarcástico e mais recentemente por meditações de pendor existencial: “o infinito olhará o finito?/Que sentido faz o imenso universo/preocupar-se com terreno grito?”
No fundo, como diz José Manuel Costa da editora Opera Omnia, um homem “de muito fácil trato, muito culto (…) Era bem-humorado, gostava de contar histórias e anedotas, até relacionadas com escritores (…)” ; e, como adita Pedro Mexia, “uma mentalidade ostensivamente não académica, e sua tendência polémica tem como alvo frequente a universidade portuguesa e o cânone que esta terá estabelecido”.
Um ensaísta e um poeta a (re)descobrir.


Camões e os Velhos do Restelo
Manuel Branco de Matos
“OS LUSÍADAS”, Canto IV, Ests. 94-104
1. O espírito crítico dos Velhos do Restelo
Andam pela rua da amargura os Velhos do Restelo. A expressão é depreciativa. E é injusta. Fizeram crer que o Velho do Restelo de Luís de Camões é a voz de quem não vê com bons olhos o progresso. Usada quase sempre abusivamente e sem contradita, tal expressão é truísmo de gente inculta, apanágio de intelectuais de fim-de-semana, músicos só de outiva ou filósofos de conversa fiada que, à falta de argumentação sustentada, em vez do modesto silêncio que se abre ao conhecimento, desconversam e se exibem, sem qualquer espírito crítico, com citações e alusões de proveniência duvidosa. Ora, onde não há apurado espírito crítico, abunda a maledicência – e vice-versa. O Velho de Camões não é o rábula senil que esteja sempre na retranca quando se fala de juventude e novidade.
Quem conhece o funcionamento interno d’Os lusíadas e souber da complexa maquinaria desta obraprima do classicismo com a qual Luís de Camões alçou a literatura pátria aos cumes da melhor poesia europeia da época e de sempre, sabe que, numa linha horizontal, são duas as partes estruturantes do Poema, figuradas ambas na Proposição da Epopeia, e logo no 1.º verso – «As armas e os barões». Fecham estes dois grandes segmentos paralelos e simétricos os dois grandiosos episódios da Obra: o Adamastor, no final da 1.ª parte que é o Canto V, e a Ilha dos Amores, no Canto IX, 52. Alegóricos ambos, estes episódios são de grande profundidade referencial e semântica. Eles são símbolos significantes da intermédia diabolização e da final divinização do empreendimento nacional que foi a experimentação do caminho marítimo para a Índia liderada por Vasco da Gama e, por extensão, a diabolização e sequente divinização da criatividade humana e do progresso.
Como acontece com todos os autores, há n’Os Lusíadas momentos prosaicos ou de menor literalidade, como são, por exemplo, as narrativas dos Cantos III e IV, funcionalmente destinadas à narração dessorada e

quase retilínea da História de Portugal. Pontilham, no entanto, esses dois segmentos narrativos – o histórico e a viagem marítima – episódios de alto dramatismo épico e de lirismo marcadamente camoniano, onde o genial Poeta manifesta a sua faceta de cidadão erudito quanto a várias matérias, e culto na conceção do mundo, do homem e das coisas. Se razão houvesse nas depreciativas alusões que contra Os Lusíadas moveram alguns autores, cujo chefe-de-fila foi e será o sempre atrabiliário José Agostinho de Macedo, elas não são capazes de derruir esta Epopeia nem de beliscar o seu Autor. Ler a sensaboria que é o Oriente, por exemplo, com o qual poema Macedo pretendera suplantar Os Lusíadas e apear Camões, é quanto basta para escolher entre um genial poeta e um poetastro vulgar, ainda que, neste caso, mestre inconcusso no manejo da sintaxe e funcionamento da língua escrita, pouco sensível porém à beleza da linguagem poética. Nem merece crédito o grande Voltaire quando, num apontamento acrítico e gratuito, ousou diminuir a lusa epopeia camoniana. A propósito, diz Garrett que Voltaire d’Os Lusíadas sabe nada e, de português, sabe «poucachinho»31 .
Conhecida, pois, a estrutura interna da Obra, fácil é compreender por que razão a grande personagem que é o Velho do Restelo aparece no final do Canto IV: o momento da partida das naus é o ponto de encontro entre o fim da história narrada e o início da história vivida. Por isso, este episódio mereceu um especial cuidado narrativo por parte de Camões e é um alto momento poético em que se manifesta a sensibilidade humana e o talentoso estro do Autor, episódio motivado não só pelo próprio realismo dramático da despedida, que nem houve para que se não prolongasse o martírio:
“Determinei assim nos embarcarmos
Sem o despedimento costumado, Que, posto que é de amor usança boa, A quem se aparta ou fica, mais magoa” mas também pela tonalidade e tratamento dessa «voz pesada», «Que nós no mar ouvimos claramente». Esta «voz pesada» – pensada, ponderada, contida e sofrida mas não silenciada, mais lamentosa que 31 «Poucachinho» se diga, e não poucochinho como se ouve dizer, nomeadamente nas Tvs. Poucachinho ouvíramos dizer diziam aos mais antigos, poucachinho escreviam e escrevem os nossos melhores autores, Garrett por exemplo, poucachinho registam as gramáticas e os linguistas consagrados: cite-se, por todos, Vasco Botelho de Amaral, que explica: não há em português o sufixo – chinho, há o sufixo –acho/a, reforçado ou não pelo sufixo –inho/a que reforça ou ameniza o sentido depreciativo de –acho: bolo>bolacha, capa>capacho>capachinho, fogo>fogacho, rio>riacho, pouco>poucacho (fora de uso)>poucachinho. Sem prejuízo do respeito pela natural evolução da língua, ninguém tem legitimidade para de per si alterar o património linguístico oral de que somos meros depositários.

contestatária – está em sintonia solidária e afetiva com o ambiente de sofrimento e dor silenciosa dos circunstantes, tanto dos familiares quanto da marinhagem:
“Qual vai dizendo: – Ó filho, a quem eu tinha
Só para refrigério e doce amparo
Desta cansada já velhice minha, (…)
Qual em cabelo: – Ó doce e amado esposo
Sem quem não quis Amor que viver possa,
Porque is aventurar ao mar iroso
Essa vida que é minha e não é vossa? ( )
Nós outros, sem a vista alevantarmos
Nem a mãe, nem a esposa, neste estado,
Por nos não magoarmos, ou mudarmos de propósito firme começado”.
2. O Velho do Restelo e a dimensão política d’Os Lusíadas
A voz do Velho do Restelo ganha outra dimensão quando considerada como reflexão do Autor, a partir da sensibilidade própria e da experiente capacidade crítica do Cidadão Luís Vaz de Camões. Não se entenderia que o Épico que empregara anos de sua vida na preparação, esquematização e redação da Epopeia que exalta o «peito ilustre lusitano» fosse contrário ao maior acontecimento do seu século.
A Viagem do Gama é já irreversível – álea jacta est «Mas um velho de aspeito venerando» …
Este verso oferece-nos a chave da justa apreciação do episódio. Depreciá-lo é correr o risco de errar o alvo da mensagem que, afinal, é uma grande lição. Quem fala é «um velho» – anónimo e indeterminado: por isso, a sua voz é a voz duma personagem que presentifica aqui o espírito dalguém que fala sem outro interesse que não seja o de dizer o que deve ser dito: não interessa quem, mas o quê. E esta posição é a pedrade-toque do verdadeiro espírito crítico que todos deveríamos ter: saber o que está em causa e não quem está em causa. Tal personagem não é um maltrapilho, demente ou senil velho insensato, mas alguém «de aspeito venerando», sábio apenas pela vivência dos seus muitos anos – «Cum saber só de experiências feito».
A personagem inspira respeito, sensatez e atenção de Vasco da gama e mareantes: «Que nós no mar ouvimos

claramente». Ficamos cientes de que as palavras tiradas «do experto peito», sejam elas quais forem ou vierem a ser, não serão palavras levianas ou impensadas: deverão ser ouvidas como as bem ouviram em pleno mar aqueles a quem elas eram dirigidas em primeira instância – palavras que estão em linha com outros momentos da epopeia, em que a ética comportamental não ficou fora desta obra na qual a reflexão conclui cada fio narrativo: a consciência da nossa debilidade não fica soterrada pela aventura marítima nem obscurecida pelos geniais lampejos estéticos do Autor.
A expressão gestual do Velho – «meneando/três vezes a cabeça» – mostra que a sua apreciação crítica não vai ser agradável. Mas há dois momentos distintos: há a voz do pai que censura vícios comuns que, supostamente, teriam motivado a empreitada marítima; e há a voz política em que a personagem censura uma determinada posição governativa. Na dicotomia entre as duas linhas políticas que, convergindo ou divergindo, frequentemente se opõem, o Velho do Restelo opta por uma delas e essa «voz pesada» passa a assumir uma função didática muito específica: é a voz da corrente política de raiz teocrática, a favor da Cruzada que foi estruturante da 1.ª dinastia e do alargamento do território, uma voz alternativa e mais popular que daria continuidade à guerra santa e à tradição da expansão á custa dos vizinhos mouros. Se a «glória de mandar», a «vã cobiça» e a honra fraudulenta são matéria comumente aceite como vícios deletérios porque deles decorrem consequências gravosas, já é discutível a alternativa proposta ou sugerida aqui num estilo marcadamente retórico pela apóstrofe que invetiva, acirra e censura – estâncias 100 e 101:
“Não tens junto contigo o Ismaelita
Com quem sempre terás guerra sobejas?
(…)
Não tens cidades mil, terra infinita,
Se terras e riqueza mais desejas?
(…)
Deixas criar às portas o inimigo
Por ires buscar outro de tão longe,
Por quem se despovoe o reino antigo,
Se enfraqueça e se vá deitando a longe!”
Em primeiro lugar, esta imensa personagem, que o vulgo deprecia e tem por Velho retrógrado, é a voz da consciência e do pensamento do Autor Camões, adulto, crítico e experiente, convergente nesta matéria

com o Autor do Auto da Índia. Gil Vicente e Camões conheceram não só as motivações e os meandros de sucessivas viagens à Índia, mas também o cambalacho em negócios tanto em Lisboa quanto nas partes orientais, e as consequências sociais, a decadência de valores do período posterior às especiarias. Não há, nesta voz que Camões personifica no Velho do Restelo, nem ideias retrógradas nem comportamento reacionário. A personagem pondera, ajuíza, aponta vícios que todos reprovamos. Em segundo lugar, admitida ser esta ou não a voz da consciência de Camões, a sugestão da continuidade da Cruzada em vez da exploração do mundo novo ultrapassa o pensamento camoniano porque ela é a expressão da corrente política tradicional e conservadora, contrastante com o novo, com o progresso e com a mudança. Tal dicotomia, este confronto entre as políticas tradicionais e as políticas de inovação – que hoje se traduzem, grosso modo, na dicotomia parlamentar direita v. esquerda – atravessa toda a nossa História, desde os tempos da fundação da nacionalidade até aos dias de hoje. E sempre venceu a voz do progresso. Em São Mamede, por exemplo, defrontam-se a Condessa Dona Teresa e seu filho Afonso Henriques, ela ligada ao reino de Leão e ao velho Condado, ele e seus fidalgos futurando o novo Reino de Portugal: vence a ideia da fundação do reino e Portugal nasceu; na crise de 1383/85, instaura-se com o povo na rua a dinastia de Avis, sustentada pela burguesia nascente contrária à velha fidalguia e à continuidade da «guerra santa»: perde Leonor Teles e ganha a nova geração da pequena nobreza; insucessos contínuos com Afonso V que repristinou a ideia de Cruzada e se reativaram as políticas africanistas da guerra santa contra o islão, à qual se opuseram D. Pedro Regente, primeiro, e sobretudo D. João II que investiu fortemente na política marítima dos Descobrimentos que fizeram de Portugal um país com ressonância na Europa; reincidente nas políticas da velha nobreza inquisitorial dos poderosos João III e seu irmão Henrique Cardeal, D. Sebastião volta ao Norte de África e deu com os burrinhos na água. O sacrificado Infante Santo e os de Alcácer-Quibir são as derrotas mais visíveis das trágicas políticas africanistas de antigamente, e a juventude militar das guerras ultramarinas com seus mortos e mutilados, fruto da saloiice política e da incompetência governativa, são no século XX a coroa de glória e o rombo fatal no velho Titanic lusitano. À voz do místico António Conselheiro 32 da nossa Guerra de Canudos, estadista inábil, inculto e cínico, sem estratégia nem visão política mas que conduziu o país durante meio século, não houve nem glória nem proveito para a Nação. Portugal soçobrou e desaguou naquele eufemismo que nos consola porque lhe chamamos descolonização, mas que, na realidade, foi beco sem saída.
32 VARGAS LLOSA – A Guerra do Fim do Mundo. Cf. GUERRA DE CANUDOS

3. O Velho do Restelo e a dimensão ética da Epopeia
Luís Vaz de Camões, poeta português do século XVI, cidadão e patriota, culto e erudito, varão de notável formação humanística e literária, é poeta de rara sensibilidade e singular reverberação interior. Dele sabemos o que sabemos a partir da análise da enorme obra poética que nos deixou. Coisas inauditas se contam à la diable e se escrevem a respeito deste Príncipe dos Poetas lusos – coetâneo do seu homólogo francês Pierre de Ronsard, também ele penta-centenário – coisas que se fantasiam e aboboram, desde o seu nascimento e filiação até ao atribulado mancebo, homem da noite, valdevinos apaixonado e mulherengo. Esta menorização dos nossos maiores – Camões e Bocage, por exemplo – ou o seu exacerbado engrandecimento quando convém à pública retórica é típica de povos incultos, sobretudo quando amestrados duradoiramente por sistemas reacionários ou por indivíduos de escasso banho cultural com excesso de perfume político, scilicet: inteligência curta e abundante prosápia.
O Velho do Restelo é este Luís de Camões: polímato sensato e com justa visão holística do mundo e dos homens, um ser humano maduramente equilibrado, adulto, austero e consciente das realidades éticas e políticas do tempo, poeta de pensamento profundo e sentida reverberação interior. O conhecimento d’Os Lusíadas basta para saber de Camões o que realmente interessa, sem apostilhas nem fantasias pretensamente biográficas. Sabemos que o Autor reservou o final de cada um dos seus dez Cantos para, além de pontuais momentos de reflexão individual, refletir ex-professo e em lugar próprio, sobre a vida humana e o mundo que o rodeia, comentando comportamentos de cariz filosófico e moral. Tendo em conta o esqueleto estrutural da obra, o Velho do Restelo situa-se, obviamente, no termo do Canto IV, ponto narrativo «onde a terra acaba e o mar começa», e o Canto IX não é apenas mais um vulgar episódio ou simples reflexão filosófica: é uma fantástica alegoria ou representação significante do prémio que é concedido, a quem, com pertinácia tenacidade e resiliência, vai criando o acontecer e vai fazendo evoluir o mundo. Esta, a grande lição: imprescindível é não depreciar os ecos das sensatas vozes do passado sem deixar de seguir as apelativas vozes do futuro.
Conclusão
500 anos depois, está Luís Vaz de Camões tão vivo como nesse ano de 1524, em que nasceu. Da morte se libertou porque do poeta se sabe o bastante. Do indivíduo, porém, sabe-se quase nada. Do amplo oceano do génio artístico europeu dos séculos passados, por ele e com ele sobressai a literatura, e Camões lado-a-

lado com seus pares: Ariosto e Tasso, Dante e Petrarca, Milton e Goethe, Cervantes e Pierre Ronsard. Também Fernando Pessoa ombreia com os melhores poetas modernos ocidentais. Na prosa, porém, não temos ninguém com a envergadura de Dostoievski ou Tolstoi, nem Stendhal nem Balzac, nem Proust nem Zolá, mas temos um glorioso Prémio Nobel a ombrear com Vargas Llosa e Orhan Pamuk, e prosadores de grande mérito de que Vieira, Garrett, Eça de Queirós e Saramago são os pilares do edifício literário lusitano: são quatro colunas mestras da ficção portuguesa, à volta dos quais ou com eles e a par deles, além de Camilo que é um caso à parte, proliferaram e proliferam Raul Brandão, Agustina Bessa-Luís, Lobo Antunes e tantos outos, nomes grandes que orgulham as letras pátrias.
Em literaturas, o nosso país sempre esteve lado a lado com a Europa culta. Na «divina arte de Apolo», porém, não temos nem Mozart nem Beethoven, nem Verdi nem Vivaldi, nem Stravinski nem Schoenberg e, nas artes em geral quase ninguém a erguer na Europa o nome do país. Ao lado de Rubens ou Van Gogh, de Velasquez, Miró, Picasso ou Salvador Dalí, nada ou quase nada. Nas ciências, um Prémio Nobel em 1927, nada mais. Há quem propositadamente confunda cultura com erudição. Ao contrário da erudição que se obtém em tempo relativamente curto e que um computador poderá suprir, a cultura estruturante do espírito de qualquer nação ou da mente dum indivíduo é fruto de séculos políticos e de aturado trabalho individual. Ora, Portugal antigo, foram séculos de censura inquisitorial e mordaça interna – consequentemente, inevitavelmente, país pobre de talentos, artistas medianos e de cientistas sem rasgo investigativo.
Modernamente, não será tanto assim e o futuro é promissor: abril de 74 permitiu uma melhoria imensa no domínio das ciências e das artes. A obra de arte e as descobertas científicas não aparecem por geração espontânea nem medram em campo raso, mas também é certo que a literatura, mormente a arte poética, é como a violeta dos valados ou como o arbusto que vence na aridez do deserto: cresce nos pântanos políticos e também por entre as friestas das rochas ascéticas. Porque a arte em geral e a poesia em especial é bicho estranho que o ditador prefere ignorar ou fazer como o cão que ladra de longe ao bicho bravo que não conhece: prefere não provocar. Por outro lado, a arte literária, toda a literatura, tem a fluidez dos sons musicais e a plasticidade dos gestos suaves: por um lado, escapa-se por entre os dedos dos ditadores, por outro lado encara-os com a frontalidade física da escultura e da pintura.
No entanto, nenhum dos grandes mestres escritores escapou ileso, nem escapará, à sanha persecutória de sistemas políticos autoritários, mais ou menos teocráticos, ao enxovalho de governantes reacionários e pérfidos, nem ao sarcasmo ou enxovalho de um povo tacanho ou ignorante. Pax mortuis.


Recensões/Sinopses
Afirmar e revelar neste espaço de divulgação muito do quanto se escreve sobre Guimarães e pelos vimaranenses é o timbre desta rubrica habitual. Logo, um ponto de encontro sobre a produção e criação literária das nossas gentes e acerca da nossa cidade, nas suas múltiplas perspetivas e facetas.

25 DE ABRIL, 50 Anos 50 Poemas Equipa redatorial
Oportuno neste ano de comemorações do 25 de Abril de 1974, o livro de poesia “25 de Abril, 50 anos 50 poemas”, do vimaranense José Fernandes Matos, é um hino verde-rubro de um país com História que de tempos a tempos faz História, como aconteceu há 50 anos.
Realmente, um livro que historia diacronicamente, desde a “Hora de despertar”, assim se intitula o poema de abertura, uma caminhada de obstáculos rumo ao país da democracia e da liberdade, quando ainda “no ar circula um perfume novo/saído da noite, do sonho, da luz (…) / um aroma com odor a terra, seiva, / mosto, fermento, alga ou urze”. A madrugada de Abril vinte e cinco que “encurralou o lobo no seu esconderijo”.
De facto, uma história em verso contada nos poemas iniciais com cambiantes mais narrativas, por vezes e porventura em tons mais prosaicos e próximos de Ary dos Santos e das suas “As Portas que Abril abriu”, que recordam os acontecimentos, as lutas, as conquistas e os esforços épicos dos novos navegadores contra os adamastores ditatoriais, na sua demanda e busca por um porto seguro de liberdade e democracia, que o poema “Meu país meu país” evoca e anseia:
“Aqui, no cimo do convés relembro teu nome solene e puro das novas e velhas caravelas rasgando as velas contra as marés à procura de um outro futuro”.


Um futuro que vivido com avanços e recuos no presente, por vezes com a falta de vento em popa, ou até ventos adversos, que leva o poeta a gritar que “a poesia é insubmissa, rebelde/ provocatória quanto necessário/sarcástica e dura quanto se deseja”, bem como e de novo, a gritar e a avisar o homem do leme e seus marinheiros que “andam a tentar comprar a nossa capitulação/com a nossa assinatura em branco”. Um alerta de gajeiro que vislumbra que “não vai ser fácil reverter/a onda do populismo que nos quer enganar/com slogans racistas e homofóbicos/misturados com aromas de nacionalismo”.
Com efeito, sobressaem também nestes 50 poemas de Abril que cobrem cinco décadas de tempo histórico e escrita, os avisos à navegação e o apelo à continuidade da luta e ao cerrar fileiras, que o poema “Em busca de um país novo” claramente expressa:
“É tempo de pensarmos o que queremos, de descobrir os nossos ideais, de por eles lutarmos até vencermos, criando um país de homens iguais. É tempo de mostrar a essa gente que o medo não volta nunca mais porque já conquistamos o presente e o futuro não nos intimidará jamais”
Uma resistência e resiliência que o poeta acha possível manter com a aprendizagem e a força florida da “rosa-povo”, germinada entre abril e maio, como o poema “Por uma rosa de Abril” dilucida:
“Pelo mundo aprendemos um universo de coisas úteis: como resistir na clandestinidade como sobreviver nos “Bidonvilles” ou esperar uma vida inteira em Austerlitz por um comboio que não chega pelo pão que não há.
Aprendemos a carregar aos ombros a palavra saudade como se fosse um triste fado (…)

Aprendemos a construir grandes cidades luxuosas moradias, empreendimentos de luxo, as estradas e as pontes do futuro, enquanto a ponte para a liberdade era constantemente adiada.
(…)
Nunca permitiremos que lagartos sorrateiros e covardes tentem devorar-nos.
O cravo vermelho e a rosa vermelha nunca serão flores de altar alienadas e tristes”
Com efeito, como canta no poema “Abril com asas para voar”, o aedo mantém acesa a chama de Abril, não obstante as tempestades da viagem, pois, como afirma “temos tudo para sermos felizes/asas de gaivota para voar sobre as ondas/olhos abertos para observar a luz, a sombra (…) apesar dos velhos do Restelo/que anunciam mil desgraças, /oferecendo tudo o que não podem dar”. De facto, não obstante algum desencanto, patente no poema “Em Novembro morrem os sonhos”, o vate vimaranense continua a acreditar que “nas mãos, resta a rosa de ternura, a desabrochar do silêncio”.
Grita, no entanto, em novo alerta à navegação, que “é preciso expurgar o os erros do poder/para vivermos melhor e mais felizes/ e assim o povo possa reconhecer/que governar só poderá ser um ato de servir/e nunca uma forma habilidosa de enriquecer”.
Obviamente, para além do historial da data e suas conquistas, alertas e desideratos incumpridos, o livro alia articuladamente passado, presente e futuro, lembrando o Abril (ainda) por fazer e os perigos da desistência e desleixo.
Aliás e por isso, os exemplos do passado e seus heróis e heroínas desse combate pela liberdade, não são esquecidos. Assim, três poemas sobre Catarina Eufémia sobressaem na obra, evocando o “corpo frágil e espírito forte” dessa “criança, ceifeira menina/aturdida por uma infância sem infância”, que “trigo com amor semeaste/num Alentejo mirrado de sol”. Evocação que perpassa também no poema “À Memória do João” que não esquece os jovens que não vivenciaram Abril:

“Semeaste uma flor que jamais morrerá, ergueste uma bandeira debaixo da qual o meu país construiu um sonho
Foste comigo à guerra, eu voltei, tu lá ficaste vítima do medo que nos regelava os ossos servindo de suporte a um império que apodrecia. (…)”
Ao longo dos 50 poemas, muitos deles extensos, destacam-se ainda composições poéticas de cariz mais popular, como “Madrugada Serena”, “Meu país de sonho e poesia”, ou “Meu país de liberdade” que utilizam a quadra, bem a gosto do povo.
Mas sobretudo sobressaem os poemas finais, mais próximos da lírica metafórica e imagética de José Fernandes Matos, como “Abril entre o passado e o presente”, “Nos olhos de água”, “Terra em Transe” ou “A
Morte de todos os sonhos”, entre outros, que deixaremos ao leitor o prazer de ler.
Em súmula, um livro a ler e fruir, em especial pelos amantes da poesia, apaixonados da liberdade e crentes nos sonhos de Abril…

Histórias da Resistência e da Liberdade Equipa redatorial
A propósito do aniversário do nascimento de Joaquim dos Santos Simões e da homenagem que lhe é devida, Fernando Capela Miguel lançou mais uma publicação da sua lavra, sobre o título em epígrafe, que narra histórias da resistência e da liberdade, vivenciadas e temporalizadas no antes e pós-25 de Abril, que está prestes a celebrar 50 anos.
Uma publicação com catorze histórias, com prefácio de José Silva Melo, que percorrem barricadas de resistência em companhia de nomes históricos como Humberto Delgado, iludem a vigilância dos bufos (os chamados “casos de gabardina”), vencem denúncias e perseguições e mostram os caminhos solidários da camaradagem comprometida. Outrossim, histórias que, além de ser imperativo ficarem registadas nos anais da vida democrática (projeto em boa hora abraçado), evocam espaços físicos e sociais de referência como o Círculo de Arte e Recreio (CAR) e o Cineclube, instituições de janelas abertas ao mundo, bem como nomes mais ou menos conhecidos que, sendo “sempre os mesmos”, eram porventura diferentes…
Efetivamente, narrativas reais que recordam ainda nomes como Arlindo Vicente, os tratamentos políticotermais de Ferreira de Castro pelas margens do Ave e até um torneio medieval que proporcionaria a fuga de um casal perseguido pela PIDE.

De facto, histórias reais que retratam casos de solidariedade perante a perseguição das garras do

salazarismo salazarento e os seus sequazes, abonam sobre a responsabilidade intergeracional dos guardiões da República e da Liberdade, e focalizam a força, envolvência e partilha dos combatentes, fixados para a posterioridade numa foto antiga, ou numa medalha de prata de mérito, recebida pelo CAR, aquando dos seus 50 anos de existência.
Porém e acima de tudo, como exterioriza José de Melo no seu prefácio, uma homenagem merecidíssima a Santos Simões, o homem do leme, pois, como diria, “com ele aprendemos que existia a Democracia e os Direitos Humanos (…)”
Estas são as histórias que envolvem Santos Simões cidadão incontornável em nossa casa – o CAR – e em Guimarães.
Ademais, como expressa o texto “A Memória”, à laia de dedicatória, um tributo a todos os cidadãos que se bateram contra o regime vigente (e vários são os nomes mencionados), bem como à memória dos professores com quem aprendemos o significado da palavra liberdade.
Em conclusão, histórias que devem ser lidas como recordações e ensinamentos memoráveis do passado e sobre um período histórico marcante e recente, que Capela Miguel emocionalmente e com sentido de oportunidade narra e descreve com pertinência. E que neste caso concreto provam, sem margens para dúvidas, que afinal esteve lá…
A ler…

Memórias e Contributos de um Cidadão Comum Equipa redatorial
Frederico Häendel Oliveira é o autointitulado cidadão comum, autor do livro “Memórias e Contributos de um Cidadão Comum”, lançado no final do ano de 2023, no Café FNAC.
Prefaciado por Domingos Bragança, Presidente da Câmara Municipal de Guimarães e amigo pessoal do autor, a obra abarca histórias da sua vida em Guimarães deste famalicense por nascimento, que por terras de Guimarães se apaixonou pela esposa, criou prole e se instalou enquanto vimaranense por paixão e adoção. Obviamente memórias diversas que passam pela guerra colonial na Guiné e pela vida pessoal, familiar e profissional do autor, bem como da sua visão da sociedade, enquanto cidadão comum que expressa o que lhe vai na alma.
De facto, um livro da experiência da vida nas mais diversas vertentes, que ao longo das suas 238 páginas aborda também as experiências políticas como deputado na Assembleia da República, em 1979 e 1983, bem como na Assembleia Municipal de Guimarães em que lideraria o grupo parlamentar do Partido Socialista e presidiria a este órgão autárquico e municipal. Uma abordagem extensiva às suas experiências profissionais, nomeadamente no Grupo Santiago/Guimapress, SA., do setor da comunicação social, do qual foi acionista e presidente do conselho de administração.

Editor: Splash Books, dezembro de 2023
Curiosamente um livro que parece tê-lo instigado à escrita, de forma que “Diálogos dentro de mim”, o novo título a editar brevemente e ainda em fase de produção, já se perspetiva, desta feita num registo de sátira social e política, de cariz didático.

Simão Freitas e a Cidade Equipa redatorial
O título em epígrafe corresponde à obra que reúne algum do espólio de fotografia de Simão Freitas, da antiga Casa Simão, cedido por José Carlos Moreira à Câmara Municipal de Guimarães, cujo acervo se encontra integrado no Arquivo Municipal Alfredo Pimenta.
Assim, numa edição do Município de Guimarães, sob a direção do vereador da cultura Paulo Lopes Silva e com a coordenação de Paulo Pacheco, a obra seria apresentada no passado dia 13 de dezembro, no contexto das cerimónias comemorativas de mais um aniversário da consagração do Centro Histórico de Guimarães como Património Mundial da Humanidade.

De facto, um livro de memórias é um documento fotográfico do quotidiano vimaranense, dos seus lugares e objetos, tradições e manifestações populares que, como prefacia Domingos Bragança, Presidente da Câmara, “mostram como Guimarães de outrora é diferente da de hoje, e certamente, daqui a muitos anos, o que Guimarães do futuro será”, pois como acrescenta e diz Philippe Dubois em ”O Ato Fotográfico” (1994), “o tempo continua a correr e o espaço continua a modificar-se”.
Efetivamente perpassa na obra, como explicita o arquiteto Miguel Frazão na sua nota introdutória essa tónica da transformação e evolução, pois “ainda que incompleta relativamente a todo o trabalho


realizado por Simão que em boa parte se terá perdido, o que aqui se nos apresenta é mais que suficiente para reafirmamos a importância desta coleção para o registo da evolução urbana e social de Guimarães, que em boa hora, reafirmamos, se acautelou e compilou para memórias futuras”.
Com efeito, também esta compilação prolonga e partilha a memória futura. Realmente, estruturada em 10 temas, que vão do espaço público à fotografia aérea e da arquitetura civil e religiosa aos vimaranenses, perpassam na obra fotografias lembradas e esquecidas desde a década de 60, retirando do baú das memórias não só imagens dos ofícios, festas e romarias e feiras, mas também eventos sociais e políticos, do desporto e transportes públicos. Visões do passado que obviamente serão também herdadas pelos vindouros e novas gerações e que servirão de base ao futuro…
Uma obra que, por conseguinte, desafia a retroceder às obras da Alameda de S. Dâmaso, ao Largo da Oliveira ainda com carros estacionados, ao antigo mercado municipal de Marques da Silva, às obras do estádio e construção do edifício da Faculdade de Engenharia no campus de Azurém, ao Mosteiro de Santa Marinha da Costa antes de instalação da pousada, aos tempos do 25 de Abril e do PREC, entre muitas outras das centenas de imagens, a cores e maioritariamente a preto e branco, mas que, além da contemplação do passado projetam o devir com olhos atentos ao património herdado e adquirido.
Em síntese, uma oportuna iniciativa e mais um livro a ter em casa, para de vez em quando passar os olhos…

O Desenho no Bordado de Guimarães
Equipa redatorial
De autoria de Maria do Céu Freitas saiu do prelo o livro em epígrafe, apresentado na Casa da Memória de Guimarães, numa coedição da Câmara Municipal de Guimarães e da cooperativa “A Oficina”.
Efetivamente, uma obra com cerca de 200 páginas que traz a público o conhecimento acumulado durante décadas, que o Presidente da Câmara, Domingos Bragança, elogiaria e corroboraria como importante, designadamente pela sua coordenação por parte de Paulo Freitas, pela sua formação histórica. De facto, um relevante documento de estudo e investigação no âmbito da preservação do património vimaranense que além da experiência adquirida, acrescenta novas leituras do bordado de Guimarães, que, de acordo com o citado coordenador mostra a importância do ensino do desenho ministrado na Sociedade Martins Sarmento e na Escola Industrial e Comercial de Guimarães, em tempos passados.
Ademais, um livro com uma forte componente autobiográfica, ilustrado com várias dezenas de desenhos, que permite salvaguardar a autenticidade do Bordado de Guimarães e que a autora, nesta recolha documental, preserva genuinamente.

In CorreiodoMinho.pt, 2023-12-31
Certamente uma obra a ler, consultar e ter à mão lá por casa…

Há sempre uma primavera Equipa redatorial
O livro, que recentemente foi editado por José Fernando Alves Pinto, reúne um conjunto de dezasseis contos, com enredos diversos, marcados por orientações que encaminham o leitor no sentido da esperança, na perspetiva de que depois do infortúnio vem a alegria e a bonança.
Dada a variedade das narrativas não é possível fazer uma sinopse minimamente concisa e adequada ao livro que pretende anunciá-lo. Por isso, aconselha-se a sua aquisição, por dez euros, na papelaria da Escola Secundária de Francisco de Holanda.
As ilustrações são do nosso amigo pintor Salgado Almeida.
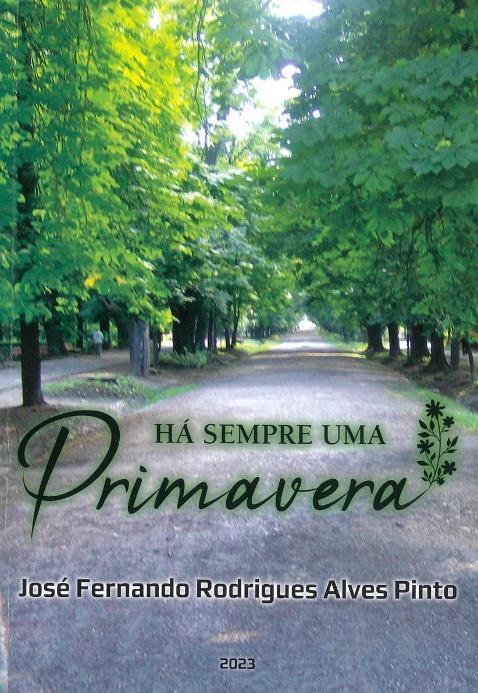

Desgarradas, Concertinas e Tradições
Equipa redatorial
15 anos de histórias é o canto do livro de Cláudia Martins & Minhotos Marotos, intitulado” Desgarradas, Concertinas e Tradições” que, além de um projeto musical, é um baú de tradições, contado num percurso gravado em cerca de 18 álbuns editados, 5 EP’s e mais de dois milhares de espetáculos nos cinco continentes. Um livro que, segundo a autora “foi seguramente voltar a viver um bocadinho de cada momento (…) e ter a certeza de que, a cada acorde que damos, as letras que escrevemos, e as estradas que percorremos, valem a pena, porque nos levam a lugares onde há pessoas que nos esperam”, quer no país quer mundo fora, em especial nos territórios da diáspora.
Deste modo, neste livro profusamente ilustrado de imagens, com cerca de 130 páginas, dá-se conta como nasce a marotice, da qual Cláudia Martins é a marota-mor, bem como surgiram os Marotos Minhotos. Igualmente, contam-se “histórias da história” e discorre-se sobre o que é uma desagarrada e o cantar ao desafio, no contexto da arte do improviso, o que dá azo a algumas desgarradas improváveis, como esta de 28 de Fevereiro de 2018, com António Raminhos:
“(…)
Anda cá oh meu amigo
Digo e torno a dizer
Hoje vou apertar contigo
Aconteça o que acontecer
Obrigado pelo convite
Minha amiga Cláudia Martins
Mas não apertes comigo
Se não fico sem os tintins
Eu vou te pôr os patins
Sou pobre não tenho bens


Como é que tu podes ficar Sem uma coisa que não tens. (…)”
Paralelamente, o livro conta também com textos diversos de amigos e colaboradores como Filipe Grachineiro, que escreve sobre a origem das concertinas, artigo a que Diamantino Ribeiro acrescenta o seu contributo com a abordagem do tema alusivo à importância da música no bem-estar da pessoa. Textos diversos a que se ajuntam outros autores como Telmo Ribeiro o “road manager” do grupo que dá mote à magia do palco e Cátia Filipe do departamento de comunicação e imagem para quem a comunicação é vida e gera vida.
Entretanto, num outro capítulo, centrado no perpetuar de uma história, Augusto Canário gorjeia “Porquê cantar as tradições”, apresentando-se seguidamente as letras de alguns desses cantos tradicionais, entre os quais o “Lenço dos Namorados”, “Passarinha e Sardão” da festa de Santa Luzia (13 de dezembro) e “Arraial Minhoto” das danças da chula, cana verde e o vira.

Este precioso livro da cultura popular termina com Portugal e a sua formação, cantado à desgarrada, sob a pena de Paulinho Brasileiro e Cláudia Martins, que nos faculta as letras das cantigas como “O melhor do nosso país” e “O Primeiro Rei” e ”O orgulho em ser português”.
Assim, desde “Portugal terra do fado/De tradições ancestrais” até D. Afonso Henriques que “anos depois em Ourique/vence impondo a sua lei”, os Marotos Minhotos mostram o orgulho em ser português, como sendo a terra “que ajudou a traçar o mapa mundo”, bem como de ”poetas mais lidos /melhores vinhos, gastronomia”.
Uma entrevista a Cláudia Martins e um prefácio do edil Paulo Lopes da Silva, completam a edição, que, como afirma o citado vereador municipal do pelouro cultural “assenta nas nossas memórias, origens e cultura”, que são a expressão de um povo.

Os Segredos da Aldeia da Meia Lua Equipa redatorial
A aventura começa com os quatro – o Gabriel, o Luís, o Zé e o Toino – a fazerem a viagem até à vila para conhecerem a EB23 que vão frequentar, felizmente todos na mesma turma, o 5ºC.
No dia da apresentação, conhecem o DT e professor de EVT, José Alberto H. Ribeiro, mais conhecido por Beto, meio cigano e arquiteto.
Na escola, todos os professores têm alcunhas; Gipsy Indian (alcunha desde a faculdade); a Bruxa Sabichona de Português dirige o Gabinete do Apoio ao Aluno, também conhecida por Bruxa Sabichona/ Psicóloga e outros.
Os quatro envolvem-se nos segredos da Aldeia da Meia Lua, que foi refúgio de alemães e de judeus na 2.ª G. M.
O Untuoso é o rastilho. É preso mas consegue fugir.
Mais uma vez a 2.ª G. M. gera situações de perigo.
O renascimento do neonazismo surge na aldeia, onde se encontraram arcas com bens de judeus na 1.ª aventura, em casa da Isabel, a herdeira da Casa Abandonada.
Todos acabam envolvidos nos mistérios da aldeia.
Como e porque é que o Luís é quase raptado na Festa de Natal da escola e acaba raptado no fim?

Qual será o desfecho? Qual é o papel do Ti Jaquim no enredo? E a tribo dos ciganos? E porque é que a Ana Luísa, a Isabel, o Beto, O Ti Jaquim e o próprio Manolo Hernandez, chefe da tribo e pai adotivo do Beto, são alvos a abater?
Ah! Há um conto maravilhoso encaixado sobre o nome da aldeia: “A Aldeia da Meia Lua”.
Gostas de mistérios? Então, tens de ler o livro.

Cartas ao meu eu do outro lado do espelho Equipa redatorial
O livro com o título em epígrafe, de Maria Teresa Portal, tem como personagem central Maria que é uma médica de Medicina Geral e Familiar, numa Unidade de Saúde Familiar, que resolve escrever cartas ao seu eu refletido no espelho para falar sobre os cacos que restam da sua vida desfeita.
Mergulhada numa depressão, da qual tenta fugir, porque perita numa outra especialidade médica, recusa-se a permanecer inativa e mergulhada na bruma escurecida da medicação.
Tem motivos de sobra para se encontrar naquele estado, mas só se conhecem quase no fim dos desabafos epistolares.
Um romance em que a personagem reflete sobre casos clínicos que resolveu e resolve numa Unidade de Saúde, nos arrabaldes da grande cidade.
Mais uma vez, a autora leva o leitor para temas bem atuais: a depressão, a pedofilia, a violência doméstica, o transtorno do espetro autista (Síndrome de Asperger), a gravidez precoce / os métodos contracetivos e doenças terminais.
Sabe que a depressão, segundo a OMS, é um dos principais problemas de saúde no mundo?

Tem episódios dramáticos, mas alguns bem caricatos, lamentavelmente verdadeiros.

José Inácio Menezes – O Homem, os afetos e a obra
Equipa redatorial
“José Inácio Menezes – O Homem, os afectos e a obra” é o título do livro de cariz biográfico, de autoria de Paulo Moreira, que na sua trilogia sintetiza desde logo o seu teor e temáticas fundamentais. Uma narrativa biográfica que o texto introdutório considera um livro sobre a vida de alguém exemplar do ponto de vista de trabalho, resiliência, honestidade, integridade e amizade, afeto familiar, constância emocional e sobriedade cognitiva.
Um livro sobre um homem de valores e de causas à(s) sua(s) terra(s), especialmente a Guimarães, cidade vizinha de Fafe de seu nascimento.
De facto, “um livro de uma vida” sobre o capitão José Inácio Menezes, como escreve Pompeu Martins no seu proémio, que proveniente de origens e raízes nobiliárquicas, nascido da linhagem dos fidalgos da Luz, que desde o século XVII habitavam em Fafe o Solar da Luz: uma casa que marca para o biografado uma identidade simbólica de proximidade com a comunidade e que significativamente marca a capa do livro.

Nestes termos, perpassam nesta obra as memórias da infância e juventude das suas aprendizagens básicas e traquinices, que igualmente nos facultam traços sociais e culturais da sociedade fafense da época, bem como, já na vida adulta independente, as suas vivências deambulatórias por Moçambique e Macau, onde conhece a sua esposa e mãe dos seus filhos.
Uma vida centrada e exercida profissionalmente na carreira militar, plena de experiências humanas e comunitárias dignas dos melhores encómios, que culminaria em Guimarães, sua terra de adoção, com a concretização em sonhos e projetos cívicos como a UNAGUI – Universidade Autodidata e a Terceira Idade de

Guimarães – instituição de que seria o homem do leme por cerca de três décadas, desde a sua criação, aquisição da sede e gestão, cuja dedicação e entrega lhe valeria a merecida atribuição da Medalha de Ouro de Mérito Social Municipal por parte da Câmara Municipal de Guimarães, no ano de 2016.
No fundo, um livro de mais de 400 páginas, profusamente documentado com ilustrações e fotos, que caracteriza um trajeto de vida do passado, mas que se projeta no futuro e para os vindouros como um exemplo de cidadania ativa, que os diversos testemunhos da família e amigos corroboram.
Como diria Paulo Moreira no decurso da apresentação do livro, na Sociedade Martins Sarmento, “um livro que não é uma biografia, mas um livro de alma”, balizado no esforço, trabalho e retidão, escrito ao longo da vida por um homem que deu a Guimarães mais do que fez por si próprio.
De facto, como se parafraseia na capa “a vida só nos traz o que alguém faz” e José Inácio Menezes foi efetivamente um fazedor abnegado de causas sociais e de amizades, como escreve e se lê na contracapa do seu livro:
“(…) muitas vezes sentimos desalento quando a caminhada parece não ter fim. Nesse momento, um amigo é a resposta mais fiável ao teu desalento. Mas não o procures para matar o tempo! Procura-o sempre para as horas vivas. Porque ele deve preencher a tua necessidade, mas não o teu vazio (…)”
A necessidade da amizade plena bem pode ser a mensagem subjacente a este livro…

Novo Livro de Gama Brandão
Equipa redatorial
“Fragmentos da Vivência Clínica dum Pediatra” é o título do novo livro do médico pediatra António Gama Brandão (AGB) que já nos habituou a estas incursões regulares pela escrita, ao longo dos últimos anos.
De facto, nome bem conhecido na cidade berço como o principal responsável pela criação do Serviço de Pediatria do Hospital Senhora da Oliveira, em 1971, e o primeiro diretor do Serviço de Pediatria, em Guimarães, AGB, não para e aos 93 anos de idade lança a sua quinta obra, onde desvenda vários casos reais que lhe passaram pelas mãos ao longo dos vastos 63 anos de carreira.
Um livro que, revelaria, teve o impulso de sua esposa, Teresa Gama Brandão, que lhe deu a força necessária para lançar a obra, cuja venda da publicação reverterá em favor do Lions Clube de Guimarães, com o objetivo de angariação de fundos em prol da campanha das crianças com cancro, iniciativa na qual a instituição citada está também envolvida.
Páginas que, segundo o autor, já há muito haviam sido escritas, uma vez que, começou a registar, desde sempre, todas as histórias com que se cruzou na sua vida profissional e humana.
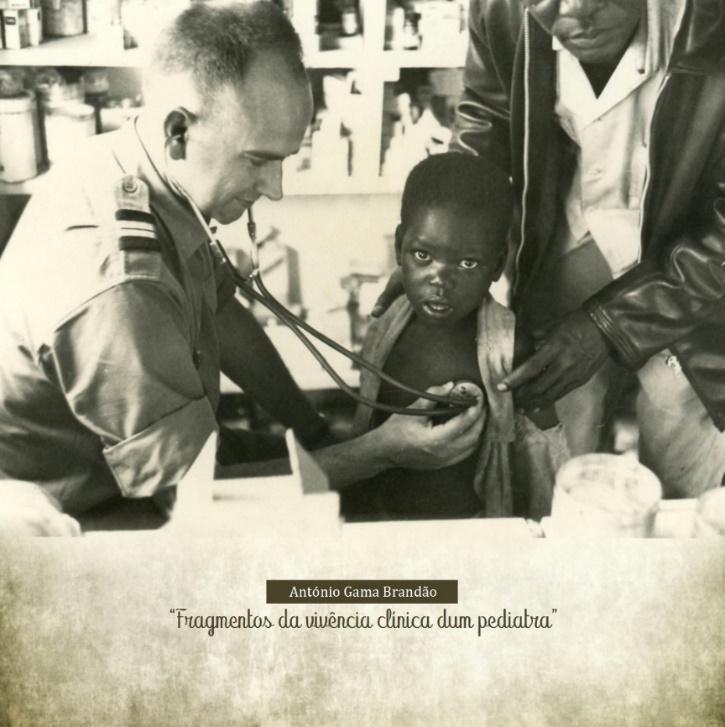
Capa do Livro “Fragmentos da Vivência Clínica dum Pediatra”; Fonteautor
Foi prefaciado pelo Dr. Manuel Machado Rodrigues e impresso, em março de 2024, pela Gráfica Nascente com a conceção gráfica do Dr. Marco Jacobeu, da Megócio. O autor escreveu ainda um introito, no qual agradece a todos quantos contribuíram para a edição deste livro.

Simão Freitas – 25 de abril Equipa redatorial
O livro citado em epígrafe, apresentado por César Machado no Arquivo Municipal Alfredo Pimenta, no decurso das celebrações dos 50 anos do 25 de Abril, constitui um documento importante para historiar e fixar fotograficamente, a preto e branco, no álbum das memórias passadas, mas sempre presentes, esta efeméride histórica e os valores democráticos do país, que também passaram por aqui.
Deste modo, graças ao município vimaranense, através do Arquivo Municipal Alfredo Pimenta, o livro saiu para a rua, captando as fotografias históricas do 25 de Abril, na cidade-berço, sob a ótica do saudoso fotógrafo Simão Freitas, que retratam ambientes e o pulsar da cidade na época, antecedidos por um breve prefácio de Domingos Bragança, Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, que sob o título “Vi(ver)a Liberdade” recorda essas vivências e alguns nomes dessa luta pela democracia.

Efetivamente, um livro que ao longo das suas 134 páginas, balizadas entre a tarde do dia 25 de Abril de 1974 e o 25 de Abril de 1975, aquando das eleições para a Assembleia Constituinte, focaliza um ano de liberdade sobre a ótica de Simão de Freitas, com especial incidência na manhã e tarde de 26 de Abril de 1974, ou seja, o dia seguinte. Outrossim, um documento fotográfico marcado pela memória impressiva da saudação ao Movimento das Forças Armadas (MFA), em 26 de abril de 1974, representado pelo Capitão vimaranense, ao tempo, Machado Ferreira e pelo Alferes Miliciano Jorge do Nascimento Silva, e, em 29 de abril de 1974, igualmente, no Toural, aquando da aclamação da população vimaranense aos soldados de Infantaria

n.º 8, comandados, desta feita, pelo capitão vimaranense Rui Guimarães. Memória fotográfica que, sob o título “Multidão, encheu o Largo do Toural com olhar marejado de alegria”, é ainda complementada por palavras de Rui de Guimarães que historia os antecedentes e ocorrências posteriores desse momento.
Mas também imagens do 1 de maio de 1974 e das manifestações promovidas pelo Sindicato Têxtil de Guimarães e Comissão Concelhia do Movimento Democrático do Distrito de Braga, que dos Paços dos Duques desfilaram até ao Estádio Municipal, na qual discursariam, entre outros, J. Santos Simões, António MotaPrego e João Oliveira Ribeiro.
Posteriormente, essa história do primeiro ano de abril prossegue por outros passos significativos como o 15 de maio de 1974, data da tomada de posse da 1.ª Comissão Administrativa, no Governo Civil de Braga e na Câmara Municipal de Guimarães; e, dois dias depois, pelo regresso do exílio de Emídio Guerreiro recebido entusiasticamente no Toural, nos Paços do Concelho e no restaurante Jordão, numa homenagem organizada por um grupo de amigos republicanos.
Uma visão que acrescenta ainda textos e imagens de comícios dos vários partidos resistentes ao Estado Novo e outros novos partidos formados pós-25 de Abril, bem como de intervenções políticas dos seus líderes mais carismáticos, quer a nível local quer nacional.
Em síntese, imagens que valem por mil palavras, num importante álbum de memórias e histórias do 25 de Abril vimaranense, a folhear emotivamente sempre que necessário e a guardar preciosamente na cápsula do tempo futuro…

Contos e Lendas de Urgezes
Equipa redatorial
Lançado em 2006, pelos” Amigos de Urgeses”, o livro em epígrafe conta, agora, com uma 2.ª edição, numa iniciativa integrada, no âmbito dos 40 anos da coletividade.
Uma coletânea de 13 narrativas recolhidas e (re)escritas por F. Capela Miguel e ilustradas por J. Salgado Almeida, que entre o imaginário e o real, o religioso e o profano, o histórico e as estórias, regista a memória coletiva da comunidade.
Contos, facécias e lendas da denominada literatura tradicional de expressão e transmissão oral que, como diz G. Durand citado por Álvaro Nunes no prefácio da 1.ª edição, “refletem formas degradadas e dessacralizadas de mitos (…) que, neste caso, pelo processo de (re)escrita, constituem a expressão simples e pura dos arquétipos do inconsciente coletivo e personificações das crenças de culturas específicas”.

Ora, desta feita, além da revisão das 13 narrativas anteriores, a reedição será atualizada e acrescida com mais nove estórias, entretanto recolhidas, que remetem genericamente para a toponímia da freguesia, nomeadamente para lugares como o Salgado, as Molianas, as Trofas ou o Sabacho, entre outras. Logo, paralelamente, nove estórias e nove novas ilustrações, que se estendem à Santa da Lapa e à Bruxa de Urgezes, entre outras.
Recorde-se que estes contos e lendas, que na versão final totalizam cerca de uma centena, foram inicialmente e periodicamente publicados no semanário regional “Povo de Guimarães”, no decurso dos anos iniciais da primeira década deste século XXI.

Pontas Soltas, de José Artur Fernandes Equipa redatorial
“Pontas Soltas” é a terceira façanha poética de João Artur Fernandes a sair do prelo, numa edição do autor, depois de “Lágrimas, Revolta, Amor e Fantasias”, publicado em 2017 e “Avanços e Recuos e…”, publicado em 2018.
O autor, nos 70 poemas que compõem o livro, sugere ao leitor, na esteira das publicações anteriores, um retrato com um marcado vinco biográfico de alguém que titubeia, mas que segue o seu caminho, resistindo e sonhando. Neste livro, somos convidados a conhecer e a partilhar as vicissitudes da sua vida: as provações; as paixões; a intimidade; os lugares; as pessoas, que matizam a sua experiência de vida. Mas o autor não se fixa apenas numa temática cotidiana e avança com reflexões, que nos interpelam e nos questionam, sobre temas tão abrangentes como a condição humana, a amizade, o envelhecimento, a guerra, os direitos humanos, o consumismo, entre outros.
A sua poesia apresenta-se num estilo expedito que capta atenção do leitor, não só pelas temáticas versadas, mas também pelo ritmo e pela musicalidade constante que se fixa no ouvido do leitor.
O livro “Pontas Soltas” é um testemunho genuíno de superação e um tributo para todos aqueles que buscam significado e propósito nas suas próprias vidas.


Sentimentos
Equipa redatorial
Diana Araújo, autora da publicação em epígrafe, vive em constante conflito com os seus sentimentos e jamais ousara confidenciá-los com alguém. Até a ela lhe pareciam loucos e absurdos.
Apenas os seus cadernos testemunhavam o misto constante entre a devassidão e a euforia; eram os seus confidentes onde explodia e se expunha.
Este livro retrata a história autêntica da autora na sua montanha-russa da vida.



Ricardo Guimarães: poemas como pedras que flutuam
Carlos Poças Falcão
Somos a pedra que sonha flutuar: este o belo e assertivo título do último livro de poemas de Ricardo Guimarães. Na sua apresentação, em Guimarães, em 23 de Março do passado mês de março, no Salão Nobre da Sociedade Martins Sarmento, tive a oportunidade de, por convite do autor, assinalar aquela que é, na minha leitura, a clave compositiva e interpretativa de todos os vinte e cinco textos/poemas do livro (mais um breve dístico final, ao modo de epígrafe ou cólofon meditativo e melancólico: Perante o absurdo da morte, resta-nos a / consolação de não sermos imortais). Qual clave é a de um imperativo ético, um dever poeticamente assumido de denúncia do(s) mal(es) do mundo, inseparável de um desejo de superação utópica, de uma lucidez dramática que se figura como sonho, na hesitação ou oscilação trágica entre esperança e desespero, luz e sombras, confiança e adversidade inelutável. Assim, o peso da pedra que se afunda não anula o sonho que a impele à flutuação. Esta poesia composta sob clave ética não resvala nunca num utopismo adolescente ou num moralismo ingénuo, antes se exprime concisamente sob a forma de uma dor lúcida e inconformada, sob a luz de um humanismo exigente que não se revê no escândalo contínuo da história. Aliás, como o poeta assinala certeiramente, é essa dor, esse imparável êxodo, através dos séculos, do homem perseguido pelo homem, é esse mal, sempre presente e sempre esconjurado, o que nos irmana e nos faz reconhecíveis como humanos: «O nosso denominador comum não é o local da origem ou do destino, nem a época em que


habitamos a vida, tão pouco a cor da pele ou a religião. O que nos une na intemporalidade da história é o êxodo, esse imensurável fluxo humano, a fuga descontrolada ao mal que nos oprime. A sede de esperança. A vontade imensa de viver!» (p. 5). Uma última palavra para a edição, muito original, sóbria e cuidada, da editora Modo de Ler, com a inclusão de uma reprodução de uma pintura de Jorge Pinheiro.
De seguida, apresentamos um dos poemas publicados: apesar de tudo
imunes aos oito olhos da aranha-mãe bebíamos a brisa que soprava quando soltavas o vestido
as rosas ainda floriam e o mar permanecia indomável esperávamos confiantes a liberdade do vento
mas os matadouros já estavam cheios de cordeiros voluntários que se ofereciam à precisão da lâmina afiada na garganta
na última ceia enquanto comentávamos a cegueira colectiva que nos afligia um dedo em riste disse-nos o que o coração já pressentia: “se continuarem a falar mal da aranha-mãe faço queixa na escola!”
Os meus filhos
Deixaram de ter vontade de sonhar
Tomámos a difícil decisão de partir
(Ricardo Guimarães, SOMOS A PEDRA QUE SONHA FLUTUAR, Modo de Ler, Porto, 2023)


Carlos Salgado Guimarães: O Rabo da Lagartixa
Silvia Lemos
Carlos Salgado Guimarães tem vindo a publicar vários livros desde 2015. O Trémulo da Carriça foi a primeira viagem que nos apresentou ao mundo em que viveu.
Apresenta-nos agora o Rabo da Lagartixa revisitando os lugares dessa viagem.
Ou
Mostra-nos Portugal do tempo sombrio a sonhar com os dias claros, numa perspetiva que ultrapassa estudos sociais, económicos e culturais, porque é contado na primeira. A primeira pessoa, esse menino impregnado de afeto, que viu os seus amigos a sofrerem com aquilo que viria a ser tão amplamente denunciado: o trabalho infantil; o menino que sabe das lutas das mulheres que trabalham por turnos na fábrica e cuja energia ainda se estende às casas onde dormem os seus filhos; esse menino que quer ser doutor e que não se cansa dos trilhos atribulados que faz diariamente até se sentar num banco de escola…

O Rabo da Lagartixa surge com a intensa limpidez dos sentidos de Carlos Salgado Guimarães sobre o pormenor que a memória guardou. A sua memória acorda a nossa memória e sentimos o cheiro do que descreve como algo que também já experienciámos; vemos com os seus olhos o colorido das flores selvagens que nos traz alegria, ou o escuro da noite que nos traz o cinzento e frio medo que nos assalta nos caminhos; tocamos as rugas das árvores, as dele e as nossas; saboreamos o pão e dizemos que como aquele nunca mais alguém o fez tão bem feito; ouvimos a chuva e o vento tão aconchegados pelo conforto da casa e desperta-se em nós a consciência da pobreza de tantas habitações.
É magnífico como usa vocábulos antigos nas suas descrições, tão antigos que quase os esquecemos e devolve-nos tudo o que a perceção lhe permitiu viver e a inteligência lhe permitiu guardar. Dá-nos a vida que viveu, nesta luz do século XXI, e damos conta que a natureza que o invadiu, não mais lhe saiu da pele.
LIVROS DE NOTAS DE UM OURIVES FEIRANTE:
José Moreira Pinto de Carvalho (1806-64)
Fátima Silva33


Numa coedição da Sociedade Martins Sarmento e da Casa de Sarmento – Centro de Estudos do Património, foi lançada no passado ano de 2023, no III Congresso Histórico Internacional – “As cidades na História”, a publicação “Livros de notas de um ourives feirante. José Moreira Pinto de Carvalho (1806-64)”, de Manuela Alcântara Santos, investigadora de reconhecido mérito no campo da ourivesaria portuguesa.
Esta publicação dá a conhecer aos investigadores e ao público em geral dois livros de notas do ourives vimaranense José Moreira Pinto de Carvalho, pertencentes ao acervo documental da Sociedade Martins Sarmento, fundamentais quer para os estudos da ourivesaria portuguesa, quer para a análise das vivências de uma família do século XIX.
Este projeto de edição, coordenado por Manuela Alcântara Santos, foi apoiado pela Casa de Sarmento – Centro de Estudos do Património, instituição que tem como uma das suas principais missões a divulgação e valorização do património da Sociedade Martins Sarmento.
O livro está dividido em três partes. A primeira, para além de uma breve descrição arquivística dos livros que servem de

Capa do livro "Livros de notas de um ourives feirante"
33 Bolseira de Investigação FCT (ref. 2022.11519.BDANA); Casa de Sarmento|Lab2PT/IN2PAST – Universidade do Minho

base a este trabalho, elucidar o leitor, especializado ou não, sobre a metodologia utilizada, a biografia de José Moreira e da sua família; as incidências do negócio de um ourives feirante, bem como do seu quotidiano familiar. Na segunda parte encontramos a transcrição completa dos dois livros de notas deste homem de negócios, reorganizados cronologicamente e segundo a sua tipologia (contabilidade do negócio e contabilidade familiar). Acrescente-se ainda que as transcrições são acompanhadas de algumas notas que clarificam aspetos técnicos ou informam sobre os indivíduos mencionados no manuscrito. Por fim, o livro termina com um glossário subordinado ao tema da ourivesaria, com índices remissivos (antroponímico e toponímico) e com as referências que sustentam todo este projeto.
Embora conte com alguns textos introdutórios, a obra pode ser explorada de diversas maneiras. Por um lado, do ponto de vista científico, a transcrição dos cadernos de notas permite acompanhar a vida de um ourives feirante: desde os seus tempos livres, onde descreve os prejuízos com o jogo, até à organização da vida doméstica, em que o ourives refere os castigos que aplicava a cada criada que se desviasse da norma. Por outro lado, o público que se interessa pela história local tem a possibilidade de aceder à trajetória de vida de um vimaranense, nascido e falecido na paróquia de Oliveira do Castelo. As cartas deixadas nos seus cadernos permitem-nos aproximar do homem que foi José Moreira, dos seus sentimentos, da forma como tentou encaminhar os seus filhos, da angústia que passava por não ter notícias deles.
Termino com uma citação do texto de Manuela de Alcântara Santos, convidando o/a leitor/a para a leitura desta obra. “Os livros de contas de José Moreira Pinto de Carvalho são preciosos: convidam-nos a acompanhar o dia a dia duro e arriscado de um feirante; alargam o conhecimento histórico da ourivesaria vimaranense – produtos, modelos, consumos, preferências, formas e relações de negócio, vivências familiares…”.
O PALÁCIO DAS HORTAS, de Maria Adelaide Pereira de Moraes
Salomé Duarte



O ano de 2024 trouxe à estampa o último trabalho de investigação de D. Maria Adelaide Cardoso de Menezes Pereira de Moraes (1930-2023) – “O Palácio das Hortas” –, em edição póstuma, pela Sociedade Martins Sarmento, com o patrocínio do atual proprietário do edifício. O texto publicado, escrito em vida pela reconhecida autora vimaranense, fala-nos, numa linguagem terna, mas sem comprometer o rigor inerente ao processo de investigação, das pessoas da Casa das Hortas, dando a conhecer aspetos das suas vidas e ligações familiares, elementos distintamente imbrincados com detalhes do ambiente social, político e cultural que, ao longo do tempo, foram caraterizando o quotidiano daqueles que possuíram ou habitaram o Palácio das Hortas.
Dividido em quatro capítulos, e com ilustrações, o livro, seguindo as orientações da autora, é complementado com a transcrição da autobiografia de Francisco Pedro Felgueiras, filho do Conselheiro e Procurador-Geral da Coroa, João Baptista Felgueiras, encerrando com uma nota sobre o proprietário da Casa, Fernando Ferreira Braga, e sobre as atuais utilizações do antigo Palacete.
A narrativa histórico-genealógica de D. Maria Adelaide é profusamente documentada – fontes bibliográficas e de arquivos públicos e privados –, denotando a maestria da autora na articulação do discurso

memorialista com a factualidade das informações documentais. A investigadora vimaranense, habituada à pesquisa histórica e do património local, leva-nos a percorrer mais de dois séculos da vida privada e pública dos “Senhores do Palácio das Hortas”, apresentando, para além dos aspetos genealógicos que investigou, diversos apontamentos e considerações contextuais sobre as dinâmicas da família, assim como dos quadros sociais e culturais nos quais a vida dos vários núcleos familiares da Casa das Hortas se desenrolaram, permitindo ao leitor ter um entendimento integrado e não fracionado do Palacete e dos que nele habitaram.
Numa linguagem, em que o traço literário se harmoniza com a narrativa histórica documentada, o leitor fica a conhecer a história de um importante edifício que fora, desde o século XVIII até ao penúltimo quartel do século XIX, Habitação Familiar, Colégio, entre 1881 e 1882, Centro de Saúde, já no século XX, e atualmente espaço de habitação, em condomínio fechado, entre outras utilizações. Os vários proprietários do Palacete, como a importante família Baptista Felgueiras, ou a Leite Botelho e a Ferreira das Neves, são figuras centrais do discurso, sendo as suas vidas revisitadas, nos aspetos genealógicos, mas também no plano pessoal e afetivo – os seus êxitos, as suas predileções e as suas desventuras são cuidadosamente consideradas –.
D. Maria Adelaide, figura familiar e estimada pela sociedade vimaranense, especialmente no que toca ao domínio do estudo e da produção de conhecimento sobre a história de Guimarães, legou mais um importante trabalho de investigação que muito favorece o conhecimento sobre o Passado e as Pessoas, cujas vidas se entrelaçam com o Património, nesta obra com o Palácio das Hortas. A relevância dos trabalhos de D. Maria Adelaide de Moraes foi sendo assinalada ao longo da sua vida, sendo o seu valor reconhecido, a título de exemplo, pela Sociedade Martins Sarmento, Instituição da qual foi sócia e membro da Direção, quando, em 1992, atribuiu o Prémio Engenheiro Duarte do Amaral ao trabalho que a autora dedicou à Casa do Arco, da série de estudos sobre as Velhas Casas de Guimarães.

VEDUTA XVII
Equipa redatorial
Foi editado mais um número da Revista online Veduta, uma edição d’A Oficina que se destaca na oferta editorial sobre o património cultural português nas suas múltiplas dimensões, perspetivado a partir de Guimarães, bem como no registo da memória das atividades realizadas ao longo do ano, na Casa da Memória de Guimarães (CDMG).
Desta feita, esta 17.ª edição inspira-se em temáticas do programa “Colóquios dos Simples” de Garcia de Orta (1501-1568), que viveu na Índia e desenvolveu um prestimoso trabalho no âmbito da botânica, farmacologia, medicina tropical e antropologia. Deste modo, a 17.ª edição centra-se sobretudo na botânica e ciência ambiental, embora conte ainda com os contributos de convidados como Emília Nóvoa Faria/António Martins, que abordam o tema “Antero de Quental e os irmãos Sampaio”.
Assim, após a abertura de Catarina Pereira, diretora artística da CDMG e Artes Tradicionais d’A Oficina, são tratados na revista temas como as “Ideias sobre um país – paisagem”, por Ana Isabel Queiroz, e aspetos “Das plantas aos tratamentos milagrosos”, assinado por João L. Monteiro, que obviamente remetem para a esfera da botânica, bem como acerca do ponto central da revista , alusivo a “Garcia de Orta, um médico do Renascimento”, texto de autoria de João Paulo Cabral que encerra o conteúdo da publicação.
A revista conta ainda com outros assuntos mais focados na ciência ambiental, como “Um futuro construído pelos cidadãos”, sob a pena de Carlos A. Ribeiro e um outro artigo intitulado “O bom, o mau e o eucalipto”, esse “vilão” dos nossos tempos que Milene Matos aborda na sua colaboração.

Equipa redatorial
Saiu recentemente do prelo o volume 132 da Revista de Guimarães, referente ao ano de 2022, edição da Sociedade Martins Sarmento (SMS), editada desde 1884, que se institui como uma das mais antigas publicações periódicas portuguesas, fundamentalmente focalizada na área das Ciências Sociais e Humanas, nomeadamente da Arqueologia e da História, bem como da Literatura e Etnologia.
Deste modo e concretamente neste número, destacamse, no âmbito arqueológico, dois artigos interessantes: o trabalho intitulado “O Culto das Matres e a iconografia castreja nas Alturas do Barroso“, de autoria do professor catedrático Armando Coelho Ferreira da Silva, médico António Silva Araújo e engenheiro investigador Rui Lobato Ferreira da Silva, que aborda o achado de três estátuas femininas de granito no contexto da iconografia castreja; e, o trabalho de Gonçalo Cruz, arqueólogo da SMS, que noticia preliminarmente, no âmbito da atividade da instituição, a campanha arqueológica realizada na Citânia de Briteiros, em 2022, relativamente à preservação e registo de uma inscrição latina referida por Mário Cardoso, recentemente relocalizada.

De facto, com apresentação de Antero Ferreira, presidente da SMS, e capa de Vasco Carneiro, este novo volume comporta ao longo das suas 310 páginas, seis artigos de diversas áreas temáticas e investigações de sobejo valor, complementados na parte final com assuntos de cariz informativo, designadamente uma listagem das publicações catalogadas na Biblioteca da SMS, em 2022, e ofertas para as coleções da instituição, bem como a lista dos premiados na festa do 9 de Março, em 2022.

Assim, entre outras publicações dignas de realce, salienta-se exatamente o teor da Conferência proferida por Amélia Polónia, no decurso da sessão solene de 9 de Março, centrada no papel das mulheres autóctones como agentes de intermediação no espaço asiático, quer em espaços de diálogo quer de confronto.
Paralelamente, sobressai, ainda historicamente mais próximo, o artigo do investigador José Manuel Lopes Cordeiro, intitulado “Dinheiro de Emergência: a emissão de cédulas em situação de crise”, que foca práticas em curso no período finissecular do século XIX e dealbar das primeiras décadas do século XX, situado no transcurso da crise económica e financeira da época. Um trabalho que é ilustrado com alguns exemplares vimaranenses pertencentes à relevante coleção de cédulas da SMS.
Mais afetos às atividades da SMS, concretamente a Guimarães, é ainda de distinguir o trabalho do investigador André Filipe Oliveira da Silva, subordinado ao tema “O Espólio da Casa do Costeado: seis séculos de História”, artigo dirigido à inventariação do arquivo de família, cujo acervo documental foi incorporado na SMS, em 2019.
Ademais e como habitualmente, é também publicado o trabalho vencedor do Prémio de História Alberto Sampaio de 2022, de autoria de Nuno Medeiros, texto alusivo ao mundo social da produção editorial e da cultura impressa, que sob o título “Edição para o Grande Consumo em Portugal: cem anos de Romano Torres (1885/86-1990)”, analisa o conjunto de mecanismos e processos sociais de construção editorial do mundo do livro, balizados entre os finais dos séculos XIX /XX.
Obviamente, uma revista a ler e a degustar…

Equipa redatorial
A exemplo do ano anterior, foi editada pela Sociedade Martins Sarmento (SMS), o 2.º volume da “9 –Revista de Guimarães Júnior”, publicação anual saída do prelo na data de nascimento do patrono da instituição, nascido em 9 de março de 1833.
Uma revista complementar da centenária Revista de Guimarães, editada desde 1884, que destinada aos mais novos seria oferecida aos alunos premiados na Festa Escolar de 9 de Março último, cujos nomes e escolas constam arrolados nas páginas finais da revista.

Ora, desta feita, Luís de Camões e os 500 anos do seu nascimento (1524/1525-1580) é um dos temas centrais da revista. Com efeito, considerada a personalidade júnior do ano, Camões é o protagonista desta narrativa, que é acrescida e enriquecida com um texto criativo sobre a sua “Juventude Ficcionada”. Deste modo, a revista parte à descoberta de Luís Vaz de Camões e d’ “Os Lusíadas”, obra-prima camoniana e universal, em que provavelmente apenas falta a citação das estrofes 31 e 35 do canto III, que focam Guimarães no decurso da Batalha de S. Mamede e cerco pelos castelhanos.
Ademais, uma publicação que além da sua leitura convida os leitores a uma visita à instituição e seus espaços representativos, que bem pode ser guiada pela própria revista, obviamente coadjuvada internamente, uma vez que nas suas páginas iniciais historia informações sobre o nascimento da instituição e o seu patrono Francisco Martins Sarmento, bem como alguns dos seus espaço mais emblemáticos, quer no âmbito da arqueologia, quer das suas coleções e descoberta da biblioteca, na qual consta, entre outras raridades, um exemplar da primeira edição d’ “Os Lusíadas”, editado em 1572.
Outro tema central da revista, com interessante design editorial e ilustração de Carina Silva, focaliza-se

nos 50 anos do 25 de Abril, que a este propósito entrevista o coronel Rui Guimarães, que na altura dos factos seria um dos vimaranenses envolvidos no Movimento das Forças Armadas, como capitão de Abril. Uma entrevista que recorda a sua participação no movimento libertador e evoca a sua passagem por Guimarães e consequente manifestação de apoio no Toural, por parte das gentes da sua terra.
Além disso, não faltam sequer jogo e passatempos, bem como os textos e ilustrações dos concursos escolares sobre a temática das comemorações dos 50 anos de 25 de Abril e ainda um espaço de “Noticiário Júnior”, entre o qual se destaca a notícia da abertura do Castro de Sabroso e da Exposição ”Redescobrindo o Castro de Sabroso”.
Cerca de 90 páginas de agradável leitura para todas as idades, barata no custo, mas rica em conteúdos, que se recomenda a adquirir antes que esgote…

Luís Vaz de Camões
Equipa redatorial
Editado pela União de Freguesias da Cidade, no contexto dos 500 anos do nascimento de Camões, no âmbito do Dia da União de Freguesias da Cidade, foi apresentado o opúsculo “Luís Vaz de Camões – 1524-2024”, uma publicação com mais de 50 páginas que pretende homenagear o nosso “príncipe das letras”, evocado na cidade na citadina Rua de Camões desde 1880.
A publicação, que conta com um prefácio do Presidente da Junta de Freguesia, Rui Porfírio e artigos e gravuras de autoria de Álvaro Nunes e Fernando Capela Miguel, apresenta cinco textos sobre o poeta, nomeadamente “Vida e Obra de Camões”, e “Camões e(m) Guimarães”, bem como outros mais específicos como “Camões e as mulheres”, “Camões e o seu tempo” e “Camões e os outros”, este último focalizado na poesia e visão de outros poetas sobre a vida e obra camoniana.

Ademais, o opúsculo encontra-se ainda profusamente ilustrado com pinturas de autores consagrados, entre os quais os vimaranenses José de Guimarães e Isabelino Coelho, gravuras diversas de capas de livros de Banda Desenhada ou juvenis, assim como imagens de coleção de cromos, selos e medalhas comemorativas.


Osmusiké em ação
O registo sumário das nossas atividades mais emblemáticas, nas suas principais valências como o teatro, a música e a poesia, em complemento desta produção editorial, são o objetivo deste espaço.
Assim, num misto de diário e álbum de textos e fotos, registamos atividades emblemáticas da nossa lavra como Cantar Abril ou os Sons de Outono, ações que revelam a nossa participação ativa na vida da cidade, como na Feira Afonsina ou na Marcha Gualteriana, assim como iniciativas evocadoras de tradições vivenciadas como o Mercado à moda antiga, cantar dos Reis, ou o Enterro de Judas, entre várias outras
Osmusiké em 2024
Jorge do Nascimento Silva; Emília Ribeiro



“As coisas mais belas estão quase sempre escondidas. É preciso apanhá-las e cultivá-las e deixá-las crescer bem devagar”
Pina Bausch

O projeto Osmusiké carateriza-se como um projeto de extensão que visa gerar atividades culturais do género artístico, musical, teatral, poético e literário com incidência no concelho de Guimarães. Ao longo de mais de 22 anos de existência enquanto coletivo têm-se vivido momentos altos de partilha de valores artístico-culturais.
Contudo, sabemos que há muito para ousar e trilhar, mas também sabemos que a riqueza de Osmusiké está no serviço que presta à comunidade enquanto polo dinamizador de atividades culturais do concelho. Tudo isto apenas é possível com o empenho e dedicação de todos os seus membros, daí que se impõe uma palavra muito especial para todos… todos os elementos que compõem as diferentes valências de Osmusiké que, diariamente, se esforçam e se multiplicam para demonstrar que vale a pena conceber tantos e tão diferenciados projetos que acrescentam valor à cultura local e nacional.

Dar Voz à Música e aos Costumes - Osmusiké (a) Cantar Guimarães
É lugar-comum afirmar-se que quem canta seu mal espanta! Pois cá por estas bandas, e ao contrário do que se diz, temos, ao longo dos mais de 22 anos da nossa existência, dado música e provas de que o canto musical encanta e que só espanta pela sua qualidade!
De facto, gostamos de música de fundo, ou seja, daquela que cria um ambiente agradável. Todavia, é também nosso costume dançar conforme a música, quer dizer, dar respostas adequadas aos interesses e circunstâncias.
Connosco, a tradição ainda é o que era! Por isso, como reis da festa, no dia 20 do passado e já longínquo mês de janeiro deslocamo-nos à Sala da Duquesa, no Paço dos Duques de Bragança, para cantar os Reis. Imaginem! Foi o 9.º Concerto de Reis – Cantar ao Menino, desta feita sob telha nobre, após vários anos a cantar e a evocar este costume de antanho pelas nossas praças fora, associações locais, lares, assim como no hospital e no estabelecimento prisional concelhio.
Assim, com sala cheia e apresentação de Fernando Capela Miguel, a audiência teve o grato prazer de ouvir Osmusiké (Cantares Populares e Cantar Guimarães), assim como o Chorus Anima Populi, e ainda o grupo “O Maranhão FC”, nossos



vizinhos de Moreira de Rei, em Fafe, que, com grato prazer, partilhou connosco a boa nova do nascimento do Menino.
Esta tradição de Cantar os reis tem raízes profundas na cultura ibérica, possivelmente remontando a costumes pagãos que foram cristianizados ao longo dos séculos.
No contexto cristão, a prática celebra a Epifania, quando, segundo a tradição bíblica, os Reis Magos visitaram Jesus em Belém, levando-lhe presentes de Ouro, Incenso e Mirra. Esta tradição envolve grupos de pessoas que percorrem as ruas e vielas, praças e avenidas, associações e outras instituições ou visitam casas particulares, cantando versos relacionados com a visita dos Reis Magos ao Menino Jesus. Um repertório variado de canções conhecidas como janeiras (cantadas em janeiro), que narram a história dos Reis Magos e a Natividade, mas também saúdam as pessoas, desejam boa sorte para o novo ano que está a entrar e pedem oferendas várias.
Uma tarde ímpar de boa música tradicional e popular, de convívio salutar entre o público, artistas e entidades convidadas, mas, acima de tudo, uma amostra exemplar e singular da preservação do património português, cantado pluralmente em várias vozes.


Por seu turno, o concerto Cantar a Liberdade teve como bandeira a celebração dos 50 anos do 25 de Abril. Como tal, Osmusiké Cantar Guimarães cantaram, logo a abrir, “E depois do Adeus”

de Paulo de Carvalho, que seria a senha para descerem às ruas da revolução algumas cantigas de Zeca Afonso e várias outras modinhas da liberdade, que, em coro e/ou com o acompanhamento de solistas, como a maestrina Ana Almeida, José Maria Gomes, Luís Oliveira e Vicente Machado, entre outros, deram voz ao que ia na alma. Assim, a este propósito, cantar-se-ia “Vejam bem”, que todos ouviram bem, e, vejam bem, “Não há machado que corte” a raiz do pensamento, porque é livre como o vento. Ademais, quando “há sempre alguém que resiste/há sempre alguém que diz não” e há sempre alguém que canta e alguém que ouve e participa, titubeando ou batendo palmas.
Momentos de liberdade e compromisso, por vezes emotivos, que o Medley de canções finais corroborou e a poesia complementou, com declamações dos mais jovens como Sara e Leonor, alunas do AE João de Meira, e os irmãos Afonso Miguel e Vitória Sofia, do AE Gil Vicente, e dos adultos Fernando Fernandes, Albertina Amaral, Maria José Ramos, Beatriz Roberto e Manuela Ribeiro, que, entre outros, declamaram Manuel Alegre, Ary dos Santos, Sophia Mello Breyner e divulgaram o poeta Fernandes Valente Sobrinho.


Porém, o ponto alto da sessão seria a presença do coronel vimaranense Rui Guimarães em palco, apresentado pela locutora de serviço Gabriela Nunes. Um merecido tributo que empolgaria a audiência e Momentos de

sensibilizaria o homenageado que, de improviso, agradeceria a distinção e usaria da palavra para recordar a passagem por Guimarães em 29 de abril de 1974 e algumas peripécias do MFA. Um capitão de Abril que muito honra os vimaranenses, pois, como sabemos, daqui houve resistência e gente que lutou pela liberdade. Outros capitães de Guimarães houve, mas que não tiveram a mesma importância na implementação do Golpe que, depois, passaria a revolução com a adesão massiva da população.
Usariam ainda da palavra o Presidente da Câmara Municipal, que enalteceu as qualidades do homenageado, e o presidente da direção dos Osmusiké, que tendo sido um alferes comandado pelo Capitão Rui


Guimarães e tendo estado envolvido no movimento das Forças Armadas, recordou esses tempos, a confiança que todos depositavam no CAPITÃO e a coragem que o distinguia dos demais. Lamentou que tivesse levado 50 anos a reconhecer o contributo de um filho da terra em tão nobre acontecimento. Um Homem sério, justo e determinado que 50 anos depois continua a trilhar o mesmo caminho, defendendo os valores da solidariedade, da justiça, do diálogo entre todos os homens. Foi isso mesmo que teve lugar no dia 29 de abril, no AE Afonso Henriques, numa sessão preparada por aqueles/as que continuam a defender e a incutir nos alunos os valores de ABRIL, bem capitaneada pela Armanda Faria, uma abrilista e amiga do Coronel.
“Grândola, vila morena”, cantada em pé e em uníssono, a plenos pulmões, não deixaria dúvidas que o 25 de Abril continua vivo em Guimarães.

Concerto Sons de Outono
Este Concerto engloba as diferentes áreas artísticas – música, teatro, poesia e dança, numa simbiose de cor e alegria, que carateriza o coletivo de Osmusiké. Este ano o espetáculo Sons de Outono, ocorreu no dia 12 de outubro de 2024, no Centro Cultural Francisca Abreu (Vila Flor), sob o mote “500 anos de Luís Vaz de Camões - Príncipe das Letras”.
Música, teatro e poesia foram os tons dos Sons de Outono que, como as multicolores e naturais quedas das folhas das árvores atapetaram o palco do auditório Francisca Abreu, no Centro Cultural Vila Flor, no passado dia 12 de outubro e deram “show” perante uma animada e cheia plateia, durante duas horas de espetáculo.
Deste modo, no âmbito de uma iniciativa habitual e anual de outono, quase a fechar o ano e sob a apresentação de Gabriela Nunes, Osmusiké fizeram subir às luzes da ribalta um sarau que teve como foco central um tributo a Camões, nestes 500 anos de seu nascimento.
De facto, seria a música e Camões que abririam o espetáculo, com a interpretação da Proposição dos “Lusíadas”, a cargo de Osmusiké Cantar Guimarães, uma composição com música de Valentim de Carvalho, e adaptações de Júlio Dias.
Assim, apresentadas as propostas do canto, seria a vez de Camões, “o príncipe dos poetas”, subir a palco com encenação dramatizada por Emília Ribeiro, que assina também os figurinos conjuntamente com Milita Marinho. Igualmente, uma adaptação que contaria ainda com o acompanhamento musical de Luís Oliveira e sonoplastia de Luís Almeida, que inspirada no filme “Camões”, de José Leitão de Barros (1946), aborda as aventuras amorosas do estudante e jovem Luís, em Coimbra.
Uma dramatização que obviamente contou com Camões em palco (Afonso Tadeu), Maria Terra, como Leonor e Vénus, José Pereira (Baco), bem como Jandira Henriques no papel de Helena e Celeste Pinto (Maria), acolitadas por duas damas de companhia, interpretadas por Rosa Carvalho e Alice Xavier, em que a voz off de Luís Almeida desencadeia e conduz a ação.
Ação que uma performance de Osmusiké Teatro colocaria em cena e que num segundo momento regressaria ao espaço cénico, desta feita para citar “Os Lusíadas” e dar azo à declamação dos sonetos camonianos “Erros meus, má fortuna, amor ardente”, por Beatriz Roberto e “Amor é fogo que arde sem se ver”, por Manuela Ribeiro.
Efetivamente, a poesia, como não podia deixar de ser perante um poeta de tal gabarito, seria uma das

forças motrizes dos Sons de Outono. Como tal, Osmusiké Poesia declamariam ainda emblemáticos sonetos de Camões por parte de Maria José Ramos (“Aquela triste e leda madrugada”), Albertina Amaral (“Sete anos de pastor Jacob servia”) e Fernando Fernandes (“Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades”), recitações que seriam complementadas pelos poetas infantojuvenis Afonso Miguel, Vitória Sofia, Bia Ferreira e Sara Gonçalves.
No entanto, os sons mais sonantes seriam os da música, quer a solo quer coletivamente. Deste modo, ouvimos Ana Almeida interpretando “Oh que famintos beijos na floresta”, com música de Jorge Salgueiro e adaptação de Júlio Dias.

Uma imagem do público que assitiu, de forma vibrante, ao concerto SONS DE OUTONO
A animação musical ascenderia ao tabelado numa diversidade de tons polícromos, protagonizados por vários grupos. Cantar-se-iam assim trechos como “Vete a lavar morena” dos Parranda Express e os temas camonianos “Não sei se me engana Helena” dos Maio Moço e “Cantiga velha de Camões”, por parte de Osmusiké Cantares Populares. Por seu turno, o Vima Chorus interpretaria “Queda do Império”, de Vitorino Salomé, a cantiga popular “Sete mulheres do Minho” e “Eu sei”, de Sara Tavares, enquanto o Chorus Anima Populi entoaria “Quero voltar para os braços de minha mãe”, de Pedro Abrunhosa, e ainda com José Maria Gomes a dar a voz a António Variações (“Estou além”) e a António Zambujo (“Pica do sete”), com base em arranjos de João Caldeira e adaptação de Júlio Dias.
De novo e após a abertura, Osmusiké Cantar Guimarães regressariam à ribalta, acompanhados pelos

solistas José Maria Gomes e Luís Oliveira. Desta vez, para interpretar as canções” A Citânia de Briteiros”, com letra de Manuela Ribeiro e música de Júlio Dias; “Sonhos de Criança” de José Maria Gomes (letra e música), com arranjos de Júlio Dias; o poema camoniano “Verdes são os campos”, musicado por José Afonso; e ainda ”Gentes Humildes e Solidárias” da autoria de Manuela Ribeiro (letra) e Luís Oliveira (música), também musicada com arranjos de Júlio Dias e da qual respigamos esta passagem:
“Somos gentes humildes, solidárias,
Sonos conquistadores de Portugal
Cantamos o passado, em belas árias
Em nós habita o orgulho nacional”.
O evento encerraria com os discursos finais do presidente da Direção de Osmusiké, Jorge do Nascimento Silva, e do Vereador da Cultura da Câmara Municipal, Paulo Lopes Silva, e ainda com os vários coros em palco que, à laia de despedida e em uníssono, cantariam “Hallelujah” de Cohen adaptada por Júlio Dias. Em grande plano na imagem, vemos, à esquerda, o presidente da delegação de Guimarães da Cruz Vermelha, Manuel Barbosa, e a apresentadora do espetáculo, Gabriela Nunes.

esquerda para a palavra: Manuel Barbosa,
Vejam 3 quadros com imagens da participação dos grupos/valências:
Poesia (QUADRO 1); Teatro (QUADRO 2); Música (QUADRO 3).
Para o ano há mais (outono)…







A música popular tem tido uma evolução muito significativa no Projeto Osmusiké, daí a solicitação desta Valência, por diversas Instituições do Concelho e não só, por forma a alegrar os seus utentes e comunidade em geral. Participaram na VI Feira de Época – Ao Encontro de Raul Brandão, em Nespereira, no dia 16 de março; no dia 8 de maio foram abrilhantar a Festa do Dia da Mãe ao Lar S. Domingos; no dia 8 de junho animaram o Jantar de Aniversário de Osmusiké; no dia 19 de junho atuaram no Cinema Garrett, na Póvoa de Varzim, inseridos no Festival da Universidade Sénior dessa cidade tão vimaranense, com nota de louvor pelo desempenho; no dia 28 de junho animaram a festa de S. Pedro dos utentes do Centro Social Padre Adelino. Em 13 de julho participaram na Feira da Terra, em S. Torcato, organizada pela ADCL. E não param!


A Programação anual da Valência de Teatro engloba, anualmente, teatro de rua, teatro infantojuvenil e uma peça de um autor consagrado. Neste sentido, foi reposta a peça “Gil Vicente e a Farsa de Folgar 500 anos depois”, uma adaptação livre de A Farsa de Inês Pereira, de Gil Vicente, no dia 18 de janeiro, no Auditório da Cruz de Pedra, com um público fantástico - Alunos da Escola Profissional Dom Afonso HenriquesOsmusiké Cantares Populares na Feira da Terra, no dia 13 de julho de 2024, no Lar de S. Domingos, no dia 8 de maio de 2024. Fotos de Osmusiké
Osmusiké Teatro

que, no final, questionaram os atores sobre a criação do espetáculo. Viveram-se momentos de partilha gratificantes.


Porque rir faz falta... Osmusiké Teatro apresentou, no dia 30 de janeiro, o Sketch "EcoStyle Salão Caló", no Salão da Santa Casa da Misericórdia.
Para quem acredita que não dá para cuidar do mundo e da beleza ao mesmo tempo, surge “EcoStyle Salão Caló”. Um novo conceito que vai justamente unificar tudo isso.
O espetáculo arrancou muitos sorrisos aos utentes e familiares bem como aos colaboradores da instituição

O Sonho adiado de Raul Brandão – Pintor com palavras
Trata-se de um espetáculo dedicado à vida e obra de Raul Brandão. Cinco atores e cinco atrizes interpretam, em conjunto, personagens e narram momentos marcantes de: Memórias, Os Pescadores, Ilhas desertas, O Doido e a morte… Um olhar atento às desigualdades sociais e à exploração dos mais fracos e que, em alguns momentos, se confunde, com um “humanismo cristológico” de cariz social.
Foi apresentado em Nespereira, nos dias 16 e 17 de março, aquando da VI Feira de Época – Ao encontro de Raul Brandãopor altura da comemoração do aniversário do escritor

O Trovador Pero do Paço e as regateiras no Mercadinho da Duquesa
Performance, que engloba músicas medievais e texto dramático com referência à vida e obra da Duquesa Constança de Noronha e D. Afonso I, Duque de Bragança, criada propositadamente para o Mercadinho da Duquesa, organização a cargo do serviço educativo e Amiguinhos do Paço dos Duques de Bragança, nos dias 28, 29 e 30 de março.

Osmusiké Teatro interpretando “O Sonho adiado”, de Raul Brandão, em Nespereira, 16 e 17 de março de 2024, e no Paço dos Duques de Bragança, no dia 30 de
de 2024

Era uma vez… Os Saltimbancos
O espetáculo foi criado a partir da leitura de vários poemas de: Fernando Pessoa, Florbela Espanca, Cecília Meireles, Olavo Bilac, Ricardo Reis, Carlos Oliveira, Armindo Rodrigues, Abílio Pinto. Acompanha as personagens da Commedia dell’Arte, encantadas com a história da “Árvore mágica”. Dela exaltam a sua força poderosa que protege a Natureza. Uma magia que cuida de animais e plantas, e que as personagens procuram aplicar nas suas relações de grande e verdadeira amizade. Este espetáculo foi apresentado nos dias: 21 de março, no Paço do duques; no dia 22 de março, na Escola Básica de Ponte; no dia 26 de março, para comemoração do Dia Mundial do Teatro, no Centro Pastoral das Taipas, direcionado para os idosos, a pedido da Câmara Municipal; no dia 27 de março, Dia Mundial do Teatro, no Centro Social de Nespereira; no dia 2 de maio, no Jardim de Infância Santa Estefânia e no dia 31 de maio, enquadrado com a Comemoração do Dia Mundial da Criança, na EB da Charneca, Taipas.
Da quaresma à páscoa – Queima do judas em S. Roque
No Sábado de Aleluia, (sábado antes ao domingo de Páscoa), à noite, na freguesia da Costa, realiza-se a festa, ou Queima do Judas. A queima do judas é uma tradição ancestral de origem pagã, relacionada com a chegada da primavera e o consequente fim do inverno.
Esta tradição perde-se no tempo e tem um carácter simbólico de expiação dos males e de purificação, através do fogo. Contudo, a queima do Judas não é só o queimar de um boneco de palha, mas, também, a representação de um trabalho artístico. Explora-se o aspeto crítico, humorístico, com especial incidência na vida política e social.

Osmusiké Teatro, em S. Roque, na Queima do Judas
Após o julgamento, lê-se o célebre “Testamento do Judas” que consiste em deixar uma “herança”, criando-se para o efeito quadras de escárnio e maldizer, onde se ridicularizam os vícios e costumes populares locais, nacionais e até mundiais.

Segue-se o desfile do Judas até ao recinto onde vai ser queimado. Com a figura principal deitada num caixão, acompanhado de grande número de pessoas, dando azo à sua euforia, demonstrando sentimentos diversos relativamente ao traidor. Se uns choram por ele, outros gritam durante o trajeto.
Chegados ao recinto das festas, local onde se tem consumado a queima da figura central desta celebração, segue-se uma sessão de fogo de artifício. Osmusiké Tetro colaboraram com a Associação de Festas da “Segunda-feira de Páscoa de S. Roque”, na criação do espetáculo.
A terceira edição da iniciativa “Memórias da nossa Terra – Mercado à moda antiga – tomou de assalto o mercado municipal da manhã de sábado, bem cedinho, do dia 25 de maio, terminando com um almoço convívio no próprio local já no início da tarde.
O evento pretendeu ser uma viagem no tempo, recriando historicamente um mercado do início do século XX, que, além




da animação a cargo da valência de teatro e do coro d’ Osmusiké, Cantar Guimarães, acompanhados pelos seus instrumentistas, contou também com a participação do Grupo Folclórico e Recreativo de Tabuadelo e do Grupo Cultural Informal de Nespereira, bem como com a colaboração dos vendedores e comerciantes do mercado. Deste modo, paralelamente a performances musicais e teatrais, não faltaram quadros e cenas da época como o vendedor da banha da cobra, o ceguinho das feiras, o vendedor de gravatas e várias outras figuras-tipo deste espaço social, assim como a algazarra de gentes e, obviamente, as vozes dos pregões, o colorido cromático dos trajes garridos, os sabores da terra e a diversidade cultural do mercado, e de produtos da região, numa sinestesia de sentidos e ambiência histórica.
A ocorrência foi produzida e organizada pelos Osmusiké, em cooperação com as entidades citadas, e contou também com o apoio do município vimaranense, no âmbito do programa IMPACTA.
Feira Afonsina
Na senda das celebrações do Dia UM de Portugal, o Município de Guimarães levou a efeito a continuidade do evento “Feira Afonsina” – 12.ª edição, proporcionando a todos os visitantes uma experiência inesquecível no tempo, através da construção de espaços temáticos que caracterizaram os quatro dias



do evento, 21 a 24 de junho, que retratou “Os alicerces do Reino”.
Osmusiké Teatro viajou ao passado e, entre a Praça da Oliveira, a Praça dos Poisos das Barricas e a Praça de Santiago, deu asas à imaginação para levar os vimaranenses e forasteiros que nos visitaram a interagirem com as/os Regateiras/Regatões; o Frade Nicolau de Santa Maria; as Devotas; o trovador e as dançadeiras e a participar no Casamento inusitado. Foram dias muito intensos, mas gratificantes.
Acresce ainda a Tenda dos AFONSINHOS, na zona dos “comes e bebes”, servidos por simpáticas donzelas e simpáticos cavalheiros, trajados a rigor.
Marcha Gualteriana
Viver as Gualterianas: Marcha - 500 anos de Luís de Camões


Viver, sentir e participar ativamente nas nossas festas coletivas, que são referência da vida vimaranense, conciliando as nossas tradições e a modernidade, são os pressupostos da nossa identidade.
A exemplo do ano transato, em que participámos com o carro alegórico sobre os 500 anos da peça teatral “Farsa de Inês Pereira”, de Gil Vicente, novamente os nossos homens de letras saltam para a ribalta. Desta vez, em tributo a Luís de Camões, nos 500 anos do seu nascimento, o nosso “príncipe das letras” e exímio poeta da língua portuguesa, autor de “Os Lusíadas”.
Assim, com conceção de Álvaro Nunes, contributo artístico e “engenho e arte” de Madalena Macedo, “o saber da experiência feito” dos obreiros da Marcha Gualteriana, em especial do senhor Salvador, e o precioso contributo da valência de Teatro Osmusiké, o carro alegórico de homenagem a Camões, tal como na viagem de Vasco da Gama à Índia, enfrentou o colossal e medonho Adamastor e a voz avisada e veneranda do Velho do Restelo e lançou-se aos descobrimentos por mares desconhecidos e pela cidade fora, no superior canto do peito ilustre lusitano.
Deste modo, com arranjos musicais e acompanhamento de Luís Oliveira, voz de Afonso Tadeu na cantiga “Não sei se me engana Helena” e apoio técnico de Luís Almeida, as “Rimas” de Camões, as mulheres camonianas desfilariam em palco como Leonor (Maria Terra, formosa e segura), ou Helena (Jandira Henriques), bem como outras beldades dos vários amores do poeta, desempenhados por Olívia Freitas e Matilde Ferreira.
Uma representação cujos figurinos e encenação tiveram o dedo performativo de Emília Ribeiro e Milita Marinho.
