





Título: OsmusikéCadernos 6
Diretor: Jorge do Nascimento Silva
Equipa Redatorial: Jorge do Nascimento Silva, Agostinho Ferreira, Álvaro Nunes, João S. Pereira, J. Salgado Almeida
Conceção gráfica: João Silva Pereira, J Salgado Almeida, Jorge do Nascimento Silva, Agostinho Ferreira, Álvaro Nunes
Capa: J. Salgado Almeida
Revisão: Agostinho Ferreira, Álvaro Nunes, Jorge do Nascimento Silva, João Silva Pereira
Ilustrações: J. Salgado Almeida
Local de edição: Guimarães
Propriedade e edição: Osmusiké, osmusike@gmail.com - www.osmusike.pt
Escola Secundária Francisco de Holanda, Alameda Dr. Alfredo Pimenta, 4814-528 Guimarães
Ano e mês: 2024, dezembro
Páginas: 636
ISSN: 2975-8041
Depósito legal: 479669/21
Execução Gráfica: Gráfica Diário do Minho
Coprodução: Município de Guimarães
Notas: 1 - Todos os artigos que integram OsmusikéCadernos 6 são da responsabilidade dos respetivos autores;
2 - Respeitando a opção de cada um, apresenta-se a ortografia portuguesa com ou sem o acordo ortográfico;
3 - Quando os textos estão assinados com afiliação profissional, os cargos referem-se à data em que os mesmos foram escritos.


António Magalhães
O 25 de Abril e o poder autárquico (em Guimarães como no país)
Domingos Bragança, Presidente da Câmara Municipal de Guimarães
Pela Liberdade contra a Indiferença
José João Torrinha, Presidente da Assembleia Municipal de Guimarães
Liberdade no Feminino
Adelina Paula Pinto, Vice-presidente da Câmara
Abril hoje e sempre
António Mota-Prego
... 25 de Abril
Óscar Jordão Pires
Mário Soares: o fundador da democracia - No centenário do seu nascimento
Raul Rocha
As
Esser Jorge Silva
O

A 25 de Abril de 1974 - o “lápis azul” esboroou-se
Händel Oliveira
ABRIL de Mãos Dadas
Gabriela Nunes
25 de abril sempre…mas sempre mesmo! 235
Amadeu Faria
Livro, espaço de liberdade e memória 239
Juliana Fernandes, Diretora da Biblioteca Raul Brandão
15 de abril de 1973 – no sindicato têxtil vence uma lista progressista 242
Jaime Marques
O meu 25 de Abril de 1974
Isabel Santos Simões
25 de Abril Sempre, esquecimento nunca mais 249
César Machado


Os 140 anos de 1884, considerado o ano de ouro de Guimarães e os 50 anos do 25 de Abril são os temas centrais desta edição, que mantém as suas rubricas habituais focalizadas nas figuras e curiosidades vimaranenses e na construção da cidade, quer no passado quer no presente, ou assinalando efemérides e marcos do associativismo.
Temáticas que se estendem pelas artes e letras, a nossa língua e os nossos escritores e o que muito por estas bandas se produz e publica.
Páginas a salivar e degustar que contam ainda, nesta abertura, com os testemunhos e depoimentos do Presidente da Câmara Municipal, Domingos Bragança, do vereador da Cultura, Paulo Lopes Silva e do diretor dos Cadernos e presidente de Osmusiké, Jorge do Nascimento.
OsmusikéCadernos 6 trazem à luz dois eventos marcantes
Domingos Bragança, Presidente da Câmara Municipal de Guimarães


A memória é fundamental para uma vivência identitária partilhada, capaz de constituir-se como um patamar, um ponto de partida, que, mais tarde, vai evoluindo e produzindo novas memórias. Em Guimarães, a vitalidade da sociedade civil, e a inelutável vontade de tratar dos temas que à vida do território dizem respeito, encarrega-se de produzir e publicar pensamento sobre temas que marcam o berço da nação portuguesa, para que não se apaguem da memória coletiva.
OsmusikéCadernos 6 trazem à luz dois eventos marcantes da história: a Revolução do 25 de Abril de 1974 e a Exposição Industrial de Guimarães de 1884. Eventos que, embora distintos no tempo e no contexto, carregam em si uma força transformadora e inovadora que moldou o futuro.
A Revolução do 25 de Abril, também conhecida como a Revolução dos Cravos, foi um momento de viragem na história de Portugal. Derrubou uma ditadura de várias décadas e inaugurou um período de liberdade e democracia. Reviver as memórias desse dia de esperança e mudança, capturando as emoções e os ideais que impulsionaram o povo a lutar por um futuro melhor, é honrar os valores de liberdade e justiça que são fundamentais para uma comunidade que quer reforçar o compromisso com os direitos humanos e a democracia.
Por outro lado, a Exposição Industrial de 1884, em Guimarães, um evento promovido pela Sociedade Martins Sarmento, simboliza um momento de progresso e inovação. O evento, que tinha como objetivo festejar a abertura do caminho de ferro e mostrar o trabalho desenvolvido no concelho, acabou por ser um primeiro passo para a reorganização das antigas indústrias de Guimarães. Mas não só. Foi também decisivo para que, em Guimarães, fosse possível a criação de uma escola industrial.
A importância de uma publicação que reúne estes dois momentos históricos marcantes é imensurável e constitui-se como uma ferramenta de compreensão e de celebração da identidade local que valoriza e preserva a rica história de Guimarães.


Fazer a história, para transformar o futuro
Paulo Lopes Silva, Vereador da Cultura da Câmara Municipal de Guimarães
A história das cidades e dos países são um contínuo temporal de pequenas transformações que vão moldando o futuro construído coletivamente. Há, contudo, momentos em que essa transformação é acelerada por alterações decisivas, fazendo de períodos curtos marcos decisivos de novas realidades definidoras daquilo que somos e queremos ser enquanto sociedade.
Esta publicação aponta dois desses momentos: 1884, ano extraordinário, marcado pela realização da Exposição Industrial de Guimarães, e 1974, a Revolução dos Cravos, que devolveu ao país a Liberdade.
Mais do que registar os homens e mulheres que operaram estas revoluções decisivas para a nossa vida coletiva, importa-me dar relevo à força desse coletivo e à transformação que desse conjunto de vontades Guimarães e Portugal beneficiaram.
1884 não foi “apenas” a Exposição Industrial. Até porque essa encerra, em si mesma, um conjunto de transformações extraordinárias para o nosso concelho. O início da universalização da eletricidade é um mote central, nas novas tecnologias e indústrias modernas que ali se discutiram e deram a conhecer.
Também o comboio cá chegou, e com ele a força motriz que o movia, as pessoas que com ele chegavam e partiam, as mercadorias e os negócios a que habilitava.
O carvão e a energia são, aqui, além de fontes de energia, imagens fortes e simbólicas da força transformadora que por aqui passavam àquela data.
A criação da Escola Industrial Francisco de Holanda, o início da publicação de “O Comércio de Guimarães”, a edificação definitiva da Basílica de S. Pedro, no Toural, ou o lançamento da revista de Guimarães são factos bem exemplificativos da energia mobilizadora que atravessava toda a sociedade, projetando Guimarães como Metrópole em processo de afirmação.
É extraordinário a esta distância, 140 anos depois, perceber que em apenas um ano foi possível “acelerar” esse contínuo temporal de que se compõe a nossa história, antecipando metas, atalhando caminho até

à modernidade. É desse tipo de ambição que se constrói o futuro.
Sem a distância do tempo que nos permite perceber a verdadeira importância dos factos, à data de hoje, olho para a inclusão de Guimarães nas 100 cidades inteligentes pela neutralidade climática com a mesma energia de transformação de realidades daqueles tempos. Ainda mais arriscado é saber que este texto se escreve em pleno verão, com Guimarães finalista ao título de Capital Verde Europeia 2026, e sabendo que, à data da publicação, já saberemos os resultados. O meu otimismo diz-me que seremos essa capital, mas uma cidade comprometida com a sustentabilidade ambiental já o somos e isso deve dar-nos a convicção de que o amanhã recordará estes tempos como decisivos.
Ao longo das páginas de escrita da história, há momentos negros, de páginas escuras, com letras carregadas e outras riscadas pela mão do poder. Tempos em que o contínuo temporal vai transformando um mundo na direção que achamos oposto, um mundo em que as nossas mãos estão atadas e trémulas do medo da força que nos é imposta, impedindo-nos de avançar.
Este é o ano de celebrarmos 50 anos da viragem dessas páginas. Do reabrir de um novo ciclo onde ganhámos a responsabilidade de podermos voltar a escrever sem amarras as páginas seguintes, no qual podemos voltar a ler as páginas escritas por todos aqueles que sonham o mundo a cores e em que o contínuo do tempo voltou a sofrer uma aceleração transformadora de uma realidade que, agora, nos permite avançar.
O 25 de abril de 1974 é o maior desses momentos no século XX, em Portugal. A partir desse dia, terminou-se com uma guerra sem sentido, em África, aboliu-se a censura e a proibição da reunião, abriu-se a porta a eleições democráticas, alargadas também ao poder local, democratizou-se a escola pública e o serviço nacional de saúde, mudaram-se as mentalidades e projetou-se um país virado para a Europa e para o Mundo.
De uma assentada, o país transformou-se e voltou a dar passos seguros em direção ao futuro. Tal como em 1884.
De todas essas transformações, não posso deixar de realçar a importância do Poder Local. Não pelas funções que, hoje, ocupo, mas porque considero que nessa proximidade política, democrática, representativa, assenta grande parte do nosso sentido de comunidade que constrói e transforma um país.
Assim, saúdo Osmusiké pela escolha destas duas datas como temas centrais desta publicação. Recordar os homens e as mulheres que fizeram acontecer e valorizar a força coletiva transformadora daqueles dois momentos decisivos é, não só de inteira justiça, mas também fonte de inspiração para podermos em

conjunto voltar a querer acelerar o contínuo da história, com pequenas e grandes transformações que nos façam chegar a essa sociedade justa, livre, solidária, que queremos, com a inovação e o ambiente a contribuírem para a qualidade de vida que nos permitam sermos felizes.
25 de Abril sempre
Jorge do Nascimento Silva, Presidente da Direção dos OSMUSIKÉ
Nasci em Mujães, Viana do Castelo, em 1951, e por lá vivi a minha meninice. Depois, passei por Braga até chegar a Guimarães e renasci, como jovem estudante, como mancebo e como oficial miliciano, nos anos 70 do século passado, no verde arraial minhoto, “na esperança de um só dia”!
Ora, esse dia chegou em 25 de Abril de 1974, quando estava em Braga, no Regimento de Infantaria 8, a cumprir o serviço militar obrigatório, após vinda para Guimarães, no Carnaval de 1970, e uma passagem por Coimbra, a cursar Direito, formação académica interrompida pelo recrutamento, que me levou a redirecionar a minha vida profissional para a educação.


Obviamente, dado que a passagem por Coimbra foi breve, seria no RI 8 que o mosto “revolucionário” fermentaria nos verdes anos e latadas minhotas, “alcoolizando” discernivelmente a nossa visão do país e do mundo. Na circunstância, confesso, muito influenciado pelo colega de quarto, o meu amigo António Mota. De facto, é bom lembrar que, para além do “movimento dos capitães”, os jovens milicianos, como emanação do povo e das ideias que proliferavam pelas academias, sobretudo na de Coimbra, em que se destacaria o vimaranense Alberto Martins (acabado de ser condecorado pelo Presidente Marcelo, em abril), foram pedra basilar da luta pela democracia e pela liberdade, muitos deles calejados no movimento associativo e outras organizações clandestinas, cada vez mais contrários a uma guerra colonial sem saída e que marcou a minha geração, mas onde o medo da guerra também imperava.
Recordo, por isso, como se fosse hoje, apesar da menor consciencialização da época, que havia a

convicção da necessidade de mudança deste estado de coisas, porque as coisas não podiam continuar assim, sob a mordaça e a bota de elástico opressiva do poder vigente.
E, então, tivemos a felicidade de sair à rua, com cravos nas armas em vez de dilagramas, generosos, audazes, desafiadores, mas convictos. Recordo, assim, as missões de reforço e controlo no aeroporto de Pedras Rubras, incumbência que dividi com o alferes vimaranense José Castelar. Relembro ainda outras ações, no Porto, onde passei os dias subsequentes à revolução, de que recordo o mais belo 1.º de maio, popular e puro, que vivi. Lembro-me ainda das intervenções em distúrbios vários (porque também os houve!) e outras situações decorrentes do PREC e da reação. Igualmente, rememoro o tempo passado no serviço de informação interna e a participação nas sessões de esclarecimento do MFA em terras minhotas, como Cabeceiras de Basto e Vieira do Minho… Mas, acima de tudo, aflora impressivamente à memória, a apoteótica manifestação popular, no Toural, em 26 de abril de 1974, onde tive o ensejo e a felicidade de estar no lugar certo e na hora certa, podendo por isso vivenciar emotivamente aquela jornada única na vida de um jovem Alferes Miliciano, que regressou a um palco que bem conhecia desde 1970 – o Toural.
Nos OsmusikéCadernos 2 (abril de 2021) relato (mais) detalhadamente essas vivências e registos desse “dia inicial inteiro e limpo”, que Sophia entoa em seus versos. Dia que Osmusiké tem cantado desde a sua existência, em 2001, até aos dias de hoje, como ocorreu recentemente no dia 27 de abril de 2024, 50 anos depois da revolução, num espaço nobre da cidade, onde tanta coisa aconteceu.
Com efeito, 50 anos depois, continuamos a lembrar o tesouro da democracia, que temos de salvaguardar. Um filão que com todas as suas virtudes e defeitos ainda é o melhor pecúlio político e afetivo dos conturbados tempos atuais. Realmente, apesar de muitos tiros nos pés e de alguns cravos a necessitar de rega, Abril trouxe conquistas incomensuráveis no contexto dos “3 Ds”: democracia, descolonização e desenvolvimento. Por isso, é importante que não esqueçamos os seus desígnios, em detrimento da corrida à “fama e glória”, ou “a troco do metal luzente e louro”, que Camões já alertava em “Os Lusíadas”. Na realidade, é preciso que não esqueçamos as lições do passado, nomeadamente do período histórico da I República, que, como sabemos, culminou nos longos anos das trevas, entre 1926 e 1974.
De facto, como canta Manuel Alegre, é preciso não esquecer que há um “Abril já feito. E ainda por fazer”. E tal como o poeta, “eu vi Abril por fora e Abril por dentro/vi o Abril que foi e o Abril de agora/eu vi o Abril em festa e o Abril lamento/Abril como quem ri como quem chora/ (…)
Deste modo e por conseguinte, não podemos esquecer o desenvolvimento social e cultural do país, no

qual o poder autárquico assume um quinhão substancial e que, em Guimarães, está à vista! Não podemos olvidar o Serviço Nacional de Saúde, apesar de algumas recaídas e pandemias vencidas! Não podemos perder a lembrança da escola pública para todos e a democratização do ensino, que se traduziu na formação superior das novas gerações, não obstante a falta de professores e a emigração de quadros! Não podemos omitir “as portas que Abril abriu”, como os direitos e garantias conquistados, que o fado retrógrado de alguns saudosistas e fatalistas desejam cantar de novo, na velha toada do tempo volta para trás!
Realmente, é preciso, de novo, reivindicar o “pão e a habitação para haver liberdade a sério”, como canta Sérgio Godinho. É preciso erguer novos “Ds” de luta: a descorrupção, o desemprego, as desigualdades. É preciso a poesia voltar à rua…
Assim, citando Alegre, “é preciso voltar a ter raiz/um chão para lavrar/um chão para florir/é preciso um país (…) É preciso voltar ao ponto de partida/é preciso ficar e descobrir/a pátria onde foi traída/não só a independência/mas a vida” …
De facto, poeticamente, e de novo com o poeta Manuel Alegre, no combate à “apagada e vil tristeza”, é urgente reivindicar um ”país de Abril (que) é muito mais que pura geografia/é muito mais que estradas pontes monumentos/ (…) País de Abril é uma saudade de vindima/é a terra e sonho e melodia de ser terra e sonho/território de fruta no pomar das veias/ onde operários erguem as cidades do poema”…
Seremos capazes de individual e coletivamente guardar esses tesouros conquistados debaixo dos colchões de nossas casas? Seremos capazes de partir em novas caravelas de aventura, rumo a mares desconhecidos, sempre firmes na gávea de atalaia e o leme a segurar?
Parafraseando Jorge de Sena, não hei de morrer sem manter a cor da liberdade, o nosso porto sempre a rumar…
Assim, pessoal e institucionalmente, no contexto d’Osmusiké, povoado de gente boa e solidária, fica o grito que espalharei por toda a parte: 25 DE ABRIL SEMPRE!…
Ora, estes Cadernos são uma prova física da liberdade de expressão conquistada. São, portanto, um tributo ao 25 de Abril e a todos quantos o construíram em andaimes sucessivos do nosso edifício democrático, que, porventura hoje, aqui e agora, necessita de pontuais reparações e obras de conservação para responder à erosão do tempo.
Porém, estes Cadernos 6 são também uma homenagem aos homens (e mulheres!) de 1884 (o ano de

ouro que mudou Guimarães), que nesses tempos, já lá vão 140 anos, deram a cara pelo progresso da sua cidade, montaram a Exposição Industrial e Comercial de Guimarães, trouxeram o comboio, lançaram a Escola Industrial e Comercial de Guimarães e cavaram os caboucos de muitos desideratos vimaranenses que haveriam por chegar.
Mas, outrossim, um reconhecimento a todos aqueles que ao longo destes tempos têm cantado aquele consabido Hino da Cidade, de 1907, com música de Vasco Leão, cuja letra do Padre Gaspar Roriz corrobora claramente, pleno de bairrismo sadio e do sentir coletivo e uníssono da urbe vimaranense: “Oh! Guimarães teu progresso tua vida,/É toda a nossa aspiração”.
Ora, o progresso destes últimos 50 anos bem pode lembrar 1884 e outras efemérides e acontecimentos singulares vimaranenses, comprovativos da determinação de uma cidade e das suas gentes com as novas lutas a vencer…
Uma cidade que sabe preservar o passado e a memória, mas também o futuro e a modernidade, que nas páginas destes Cadernos temos registado para os anais da História. Memórias que de forma coeva nasceram no berço da monarquia, despontam ao longo dos anos e séculos e se enraízam entre nós no presente e no devir, nas estradas de “Abril já feito/E ainda por fazer”…


Guimarães: o ano de ouro de 1884
Há 140 anos, quando corria o ano de 1884, a cidade organizou a I Exposição Industrial de Guimarães que trouxe à urbe e ao concelho vimaranense visibilidade regional e nacional, e que urbi et orbi exporia as suas mais-valias económicas e sociais.
De facto, nesse ano de ouro, chegou o comboio, seria criada a Escola Industrial, concluíam-se as obras da Igreja de S. Pedro, fundava-se a Revista de Guimarães e o Comércio de Guimarães e espoletavam outras iniciativas posteriores, como a implantação das estátuas de D. Afonso Henriques e de Pio IX, na Penha.
Com efeito, 1884 seria denominado o “ano que mudou Guimarães”, que obviamente merece a evocação dos seus feitos e dos homens que o gizaram, cujas ações ultrapassam a erosão do tempo.

1884: ano de ouro de Guimarães Equipa redatorial
No ano de 1884, ou seja, há 140 anos, Guimarães vivenciou vários momentos especiais da sua vida histórica, considerados como um ano de ouro da cidade. De facto, nesse ano publicou-se o decreto de criação da Escola Industrial, em 3 de dezembro, ocorreu a chegada do comboio, em 14 de abril, e realizou-se a Exposição Industrial de Guimarães, inaugurada em 15 de junho, no Palácio de Vila Flor. Simultaneamente, decorreu a primeira edição da Revista de Guimarães e do jornal Comércio de Guimarães, ainda hoje publicados, bem como outras conquistas decorrentes deste movimento progressista vimaranense.
A exposição industrial de Guimarães de 1884
Inaugurada pelas 11 horas da manhã do dia 15 de junho de 1884, a Exposição Industrial de Guimarães, decorrida no Palácio de Vila Flor, foi, na época, um dos acontecimentos mais marcantes do burgo vimaranense, na qual a Sociedade Martins Sarmento e Alberto Sampaio, eleito subpresidente da comissão executiva, teriam papéis fundamentais. Concretizada como “um ponto de partida e principalmente o primeiro passo para a reorganização das antigas indústrias de Guimarães” seria posteriormente encarada “como a única resposta à preterição que o poder central nos fizera”. Assim, na categoria dos têxteis (linho, tecidos e cotins), vestuário (confeções, chapelaria, sirgueiros, alfaiates), metalurgia (serralharia, caldeireiros, latoeiros e funileiros) e outras indústrias, entre as quais se incluiria o papel, a marcenaria, a tipografia, a encadernação, a fotografia, a relojoaria, a colchoaria, os espingardeiros, os segeiros e fabricantes de cera, cola e sabão, a cidade mostrou

Palácio Vila Flor, onde se realizou, em 1884, a I Exposição Industrial e Comercial de Guimarães. Fonte: https://em.guimaraes.pt

o que produzia de melhor, que passava também pelos couros curtidos, o calçado, selas e selins, flores e frutas artificiais, a tinturaria, os bordados, os pentes e os artigos de chifre e as cutelarias, mas também as farinhas e confeitaria, as mobílias e madeiras, as carruagens e a olaria.
Exposição que seria também um dia de festa e que faria deslocar à cidade dois comboios especiais, com os convidados a serem recebidos pelos Bombeiros Voluntários e uma banda de música que tocava o hino real, como o reporta o jornal “Primeiro de Janeiro”, referindo-se ao dia da inauguração:
As bandas executaram de novo marchas militares; na cidade os sinos repicaram, subiram alto os morteiros. D’ahi a pouco a multidão invadia as salas do edifício. Do lado da fachada principal do palácio, que defronta com o parque e com a cidade, era grande o concurso de visitantes. Fazia um calor ardentíssimo e, todavia, os habitantes da cidade e povos circunvizinhos afluíam em massa ao local de certâmen.
Seguir-se-iam os discursos da praxe do Barão do Pombeiro, presidente da comissão central e do Presidente da Câmara, Dr. Motta Prego que, em suas alocuções, felicitariam o papel da Sociedade Martins Sarmento neste empreendimento e o arrojo deste concelho de
Uma exposição que acabaria por atingir os seus objetivos políticos, conforme se depreende das palavras do delegado do governo, Jerónimo Pimentel, que no seu encerramento, em 26 de julho, a reconhecia como demonstrativa da “riqueza industrial do concelho e sino profissional.
Realmente, desde séculos anteriores à Exposição Industrial que Guimarães se vinha afirmando no plano económico, em termos inovadores para a época. Por exemplo, data de 1535, nas Cortes de Évora, o reconhecimento do rei D. João III da importância de Guimarães, ao criar doze mesteres nesta (então) vila, dando lhes regimento. Em 1691, é concedida provisão a uma fábrica de tecidos brancos, de toalhas e guardanapos adamascados,

15 de junho, inauguração da exposição industrial de 1884 (Ilustração Universal, junho de 1884)

fustes de algodão, lenços para a cabeça em linho e algodão e folhos de cambraia e, em 1778, a Câmara confirmaria os estatutos dos cuteleiros e dos bainheiros. Novas provisões régias são concedidas em 1792 a uma fábrica de fitas de seda e, em 1794, para toalhas e guardanapos. Documentos vários comprovam ainda uma fábrica de tremoias e fitas de seda estreitas pouco depois; e, em 1802, Francisco Moreira de Sá obtém aviso régio para fundar uma fábrica de papel de vegetais. Ainda no século XIX, em 1811, seria autorizada a construção de mais uma grande fábrica de cutelarias e, quatro anos depois, uma fábrica manual de tecidos com mais de doze teares. Esse empreendedorismo prosseguiria em 1819 com uma fábrica de curtumes de bezerro e a criação de uma tinturaria, em 1833, na Rua de Santa Luzia. Duas outras datas marcantes deste progresso industrial seriam ainda a criação da Real Fábrica de Tecidos de Linho, Lã e Algodão, em 1869, e a inauguração de uma fundição a vapor, em 1874. E, no ano seguinte à Exposição Industrial de Guimarães, é pela primeira vez criada, em Portugal, uma fábrica com os célebres teares Jacquart, que seria instalada em Guimarães.
A freguesia de Urgezes está intimamente ligada a essa mecanização da indústria. De facto, em 1886, estava muito adiantada a construção da fábrica de tecidos do muito acreditado negociante desta cidade António da Costa Guimarães, o homem que juntamente com seu caixeiro Manuel Pereira Bastos (ambos consagrados na toponímia local) constituiriam o núcleo inicial da Fábrica do Castanheiro. Várias se seguiriam como a Companhia de Fiação e Tecidos de Guimarães (1890) ou a Fábrica a Vapor de Tecidos de Guimarães (1897), entre outras.
1884 seria, no entanto, um ano de ouro em Guimarães, impulsionado pelo seu passado empreendedor e vanguardismo dos seus dirigentes de então.


Os homens de 1884: um breve olhar
Salomé Duarte
No início do ano de 1884, Alberto Sampaio escreveu, num texto de reflexão, publicado no primeiro número, do primeiro volume, da Revista de Guimarães: Para acordar definitivamente é necessário que o sopro da vida atravesse todo o corpo social, que ponha em atividade todas as fibras, todos os elementos que o constituem. (…) Fazer pensar é tudo; e a agitação a única alavanca que pode deslocar esse mundo: pois que agitar quer dizer – instruir, ensinar, convencer e acordar. N'este caso o homem chama-se «legião»: em vez da vontade d’um só ou de poucos, há a vontade e o pensamento de todos.1
O pensamento de Alberto Sampaio aponta para uma força coletiva, uma condição que em Guimarães se fez ação, nomeadamente no memorável ano que mudou Guimarães – 1884. Perpassando alguns dos principais momentos e realizações deste ano2, nota-se uma notável efervescência intelectual no meio erudito vimaranense, cujas principais figuras se transformaram em propulsores de um movimento comunitário que atuou em prol do desenvolvimento do concelho e da afirmação das suas principais características e potencialidades económicas, sociais e culturais.
Em Guimarães, os anos 80 do século XIX fixaram, nos seus anais, acontecimentos especialmente relevantes para a época, cujos ecos e produtos da sua concretização, percecionam-se e subsistem no presente. No plano científico-cultural, a visita à Citânia de Briteiros dos mais importantes especialistas europeus, nomeadamente no domínio da antropologia, da arqueologia e da história, quando do Congresso Internacional de Antropologia e Arqueologia Pré-Históricas, realizado em Lisboa (1880), a constituição da Sociedade Martins Sarmento (1881), a criação da Biblioteca Popular e Pública (1882), bem assim como a criação da Revista de Guimarães (1884), asseveram o dinamismo da elite letrada vimaranense da época, que
1 SAMPAIO, Alberto – Resposta a uma pergunta: convirá a Guimarães organizar uma exposição industrial? Revista de Guimarães. Vol. 1, n.º 1 (jan. 1884) 29.
2 NEVES, António Amaro das – O ano que mudou Guimarães. In 1884: o ano que mudou Guimarães. Guimarães: Sociedade Martins Sarmento, imp. 2010. P. 9-15.

demostrava estar a par do que na Europa e no Continente Americano se teorizava e praticava, no âmbito da investigação e do progresso social e cultural das sociedades – educação e instituições3 –. João de Meira, num dos seus últimos trabalhos de investigação histórica, frisa a importância de alguns destes momentos, especialmente do papel que desempenharam na constituição do conhecimento apurado da história, quando escreve: (…) só depois que esta casa [Sociedade Martins Sarmento] se fundou, que a sua abundante biblioteca se abriu, e que a sua Revista se constituiu repositório de materiais, a história de Guimarães começou a fazer-se cientificamente.4

O Largo do Toural (em 1884).
A chegada do comboio a Guimarães (1884), a realização da primeira exposição industrial de carácter concelhio, em Portugal, a Exposição Industrial de Guimarães, em 1884, e, na sua sequência, a criação da Escola Industrial de Guimarães (1884), são também exemplos do fulgor interventivo que caracterizou os homens de 1884.
Revisitar 1884 é estabelecer um encontro com um conjunto de figuras que, nas suas variadas áreas de intervenção pessoal e cívica, trabalharam afincadamente por causas públicas, cujas ressonâncias contribuíram para o reconhecimento de Guimarães e para a valorização das suas principais características, nomeadamente económicas, industriais e histórico-culturais.
Quem foram os principais atores sociais de 1884? No coletivo, os vimaranenses, no plano individual, um conjunto de personalidades, entre as quais e desde logo surge em primeiro plano Francisco Martins Sarmento5, muito embora a sua predileta discrição.
3 GERMANO, Avelino – Crónica Revista de Guimarães. Vol. 1, n.º 1 (jan. 1884) 52–56.
4 MEIRA, João de – Guimarães: 950-1580: (conferência inédita). Revista de Guimarães. Vol. 31, n.º 3 (jul. 1921) 119.
5 Francisco Martins de Gouveia Moraes Sarmento, nasceu em Guimarães, no dia 9 de março de 1833, estudou Direito na Universidade de Coimbra, dedicou-se aos estudos, etnológicos, arqueológicos e históricos, e faleceu no dia 9 de agosto de 1899. Francisco Martins Sarmento é considerado pelos investigadores como figura pioneira da arqueologia científica em Portugal.

Destacada figura da sociedade vimaranense do século XIX, Francisco Martins Sarmento colocou Portugal, e em especial Guimarães, nos meios científico-culturais europeus do seu tempo, circunstância resultante do seu trabalho de investigação, dedicado à pesquisa e compreensão das origens étnicas dos Lusitanos, e das explorações arqueológicas da Citânia de Briteiros e do Castro de Sabroso.
A comunicação Les lusitaniens6, proferida por Francisco Martins Sarmento, na nona sessão do Congresso Internacional de Antropologia e Arqueologia Pré-Históricas, realizado em 18807, revelou à comunidade de estudiosos nacionais e internacionais as particulares qualidades do investigador vimaranense8, assim como destacou a importância das ruínas da Citânia de Briteiros para a compreensão da história e da etnologia do Noroeste Peninsular.
As indagações e o método de trabalho de Martins
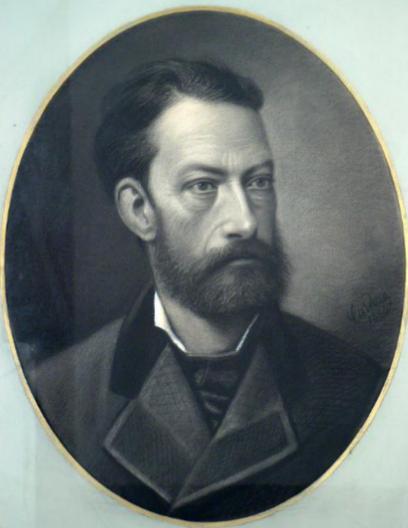
Francisco Martins Sarmento. Carvão, por António Augusto da Silva Cardoso, 1884. Propriedade Sociedade Martins Sarmento.
Sarmento foram sendo solidamente construídos, sob orientação de uma longa e metódica investigação, em várias áreas do conhecimento, de que o próprio investigador dá conta em carta dirigida ao professor Pereira Caldas, quando apresenta uma curta resenha autobiográfica: Tomou-me muito tempo a filosofia e a história dos sistemas filosóficos, mormente no que tinham relação com as religiões e a psicologia. Desci das teorias ocas à escola crítica e aí achei-me em melhor terreno.
6 SARMENTO, Francisco Martins – Les lusitaniens. Lisbonne: Typ. L'Academie Royale des Sciences, [1880].
7 Rudolf Virchow, após a visita à Citânia de Briteiros, conduzida por Francisco Martins Sarmento, escreveu: “Vive neste local, um homem, Sr. Sarmento, residente em Guimarães, o qual, tal como Schliemann, há vários anos que gasta elevadas somas em escavações arqueológicas. Adquiriu os próprios sítios para os defender de mãos incautas. Em cada ano, escava uma parte da superfície do terreno e reúne cuidadosamente todos os objetos recolhidos de modo a que atualmente possui um tão grande número de peças que constituem por si mesmo um pequeno museu. (In LEMOS, Francisco Sande – Martins Sarmento e a arqueologia europeia. Guimarães: Sociedade Martins Sarmento, 2013. P. 62).
8 Revista de Guimarães Número especial (1900).

Nestas santas disposições atirei-me à história, principalmente à história antiga, e ia neste caminho, quando a Citânia me fez recuar até à pré-história. 9
Se o trabalho teórico de interpretação crítica e comparativa de fontes escritas é assinalável, o estudo da Citânia de Briteiros, o desafio intelectual na busca de significação para as evidências materiais, projetaram o criterioso labor do escavador de montes e sua obra científica nas academias portuguesas e estrangeiras e instalaram uma profícua discussão, entre os mais destacados eruditos da época, no âmbito das grandes questões que tinham que ver, especialmente, com o estudo e compreensão da etnologia e da pré-história europeia. O primado das evidências materiais que Francisco Martins Sarmento fielmente cultivou, e de que a sua obra é um inequívoco testemunho, levou o investigador vimaranense a calcorrear a vasta região do Entre Douro e Minho, como também a Galiza, em busca de testemunhos que fundamentassem as suas teses e correspondessem às suas inquietações do espírito, na busca incessante pelo conhecimento.
Alberto Sampaio, no apontamento biográfico sobre Francisco Martins Sarmento, que apresentou em 1900, alguns meses após o seu falecimento, frisa o frenesim de ideias que caracterizou o erudito vimaranense, quando sobre ele escreve: (…) em 9 de agosto [de 1899], sucumbiu à hora e meia da tarde. Mas, pouco antes, quando a morte se debruçava sobre a fronte a dar-lhe um beijo da eterna paz, estendendo o braço emagrecido sobre a dobra do lençol e, dispondo a mão como se tivesse uma pena, fazia o jeito de escrever, de quem escrevia freneticamente. Que pensamentos, que tanto quis e não pôde exprimir, lhe revolveriam o cérebro agonizante?
E assim acabou, agitado num turbilhão de ideias, sem conhecer a velhice intelectual, quem passara um quarto de século a procurar raios de luz que iluminassem as trevas do passado.10
Ao mérito científico-cultural11, assinalado por vários intelectuais, nacionais e estrangeiros12, quer por
9 Cartas de Martins Sarmento ao Professor Pereira Caldas. Revista de Guimarães. Vol. 34, n.º 1 (jan.-mar. 1924) 7.
10 SAMPAIO, Alberto – F. Martins Sarmento: 9 de março de 1833 – 9 de Agosto de 1899. Portugália. T. I, fasc. 2 (1899-1903) 420.
11 Francisco Martins Sarmento é patrono da Sociedade Martins Sarmento, criada em Guimarães, no ano de 1881, em homenagem ao investigador vimaranense e para promover a instrução popular no concelho. Foi sócio efetivo da Real Associação dos Arquitetos e Arqueólogos Portugueses, sócio honorário do Instituto de Coimbra e da Sociedade Democrática Recreativa, de Braga, sócio correspondente da Academia Real das Ciências, do Instituto Arqueológico de Berlim e da Sociedade de Geografia de Lisboa. Entre os vários diplomas honoríficos, constam uma Portaria de Louvor pelas explorações da Citânia de Briteiros, concedida pelo Governo Português, e pelo Governo Francês foi nomeado Cavaleiro da Legião de Honra.
12 Revista de Guimarães Número especial (1900).

várias organizações, assim como pelo estado francês, os apontamentos biográficos que sobre Martins Sarmento foram sendo apresentados, destacam, também, a sua faceta de humanista e de intervenção cívica13 . Embora, sendo um homem da ciência, Francisco Martins Sarmento não se abstinha de intervir em assuntos de interesse local, transformando-se a sua casa, por variadas vezes, centro de conferências e resoluções. São conhecidas as suas intervenções contra a anarquia que caraterizava a prática da justiça em Guimarães, pelo Juiz Seco14, comumente designada Questão Seco, no movimento de defesa dos interesses de Guimarães, quando do denominado conflito Braga-Guimarães15, na censura do procedimento do coronel de Caçadores 7, por altura da Questão Caçadores 7, e no fomento da curta existência da agremiação de apoio aos lavradores do concelho, a Associação de Lavradores, entre outros.
No ano em que se assinalam os 125 anos que passam sobre a morte de Francisco Martins Sarmento, recordamos o texto que o escritor da Casa do Alto, Raul Brandão, escreveu, em 1900, no número especial da Revista de Guimarães, editado em homenagem ao investigador vimaranense:
O SÁBIO, e o arqueólogo sobretudo, sempre me apareceram sob este aspeto singular: homens que, à força de conviverem com a ciência hirta e as secas pedras, tinham endurecido o coração; homens de método e experiência, desavindos de tudo o que na vida e na natureza é simples e emotivo: árvores, amores, sol, o quinhão dos poetas enfim. Depois, porém, que conheci Martins Sarmento comecei a duvidar: estava diante d'um sábio a valer, e ao mesmo tempo – o que é mais raro e mais apreciável – d'um grande homem de coração e caráter. Guimarães deve-lhe muito: escolas, instrução, e essa admirável biblioteca Martins Sarmento, que tem, ao contrário de quantas outras eu conheço, a extraordinária opinião de que os livros se fizeram para se ler e assim os empresta a quem os queira, sócio ou não.
E este foi o pensamento dominante de toda a sua vida instruir. Por isso Martins Sarmento tem um valor mais alto, mais nobre: além d'um sábio e d'um grande coração, foi um homem que olhou para o futuro. Fundando escolas, dedicando a sua vida inteira à instrução, trabalhou para os homens d'amanhã.
13 CARDOZO, Mário – Dr. Francisco Martins Sarmento: (esboço bio-bibliográfico). In Homenagem a Martins Sarmento: miscelânea de estudos em honra do investigador vimaranense no centenário do seu nascimento (1833-1933). Guimarães: Sociedade Martins Sarmento, 1933. P. 1-19; LEMOS, Francisco Sande – Martins Sarmento e a arqueologia europeia. Guimarães: Sociedade Martins Sarmento, 2013; SAMPAIO, Alberto – F. Martins Sarmento: 9 de março de 1833 – 9 de Agosto de 1899. Portugália. T. I, fasc. 2 (1899-1903) 418-422; SAMPAIO, José da Cunha – Os nossos sócios honorários: Francisco Martins de Gouveia Morais Sarmento. Revista de Guimarães. Vol. I, n.º 1 (jan. 1884) 35-51.
14 Justiça de Guimarães: jornal vimaranense. Guimarães: [s.n.], 1872.
15 28 de Novembro: órgão da Comissão eleita no Comício Popular de Guimarães, em 28 de Novembro de 1885. Guimarães: [s.n.], 1885-1886.

E eles decerto não o esquecerão.16
Para além do incontornável valor cultural e social do trabalho e da intervenção de Francisco Martins Sarmento, muitas outras figuras basilares da sociedade vimaranense de oitocentos merecem referência, no quadro do movimento transformador de 1884. Entre as várias personalidades dignas de menção, destacamse, nomeadamente, as afetas à Sociedade Martins Sarmento, tais como José da Cunha Sampaio, Avelino da Silva Guimarães, Avelino Germano da Costa, Domingos Leite de Castro, João Gomes de Oliveira Guimarães (Abade de Tagilde)17, Alberto Sampaio, Joaquim José de Meira, Conde de Margaride, António Augusto da Silva Cardoso, entre muitos outros.
Personalidades com atividades profissionais ligadas ao direito, à medicina, à teologia, à história, à arte, ao ensino e à administração pública, cada um deles envidou esforços no sentido do progresso social e cultural de Guimarães, não somente no ano de 1884, como ao longo das suas vidas.
16 BRANDÃO, Raul – Martins Sarmento. Revista de Guimarães. Número especial (1900) 73.
17 NEVES, António Amaro das – João Gomes de Oliveira Guimarães. In 1884: o ano que mudou Guimarães. Guimarães: Sociedade Martins Sarmento, imp. 2010. P. 70-75.
João Gomes de Oliveira Guimarães (1853-1912), vulgarmente conhecido por Abade de Tagilde, nasceu em Guimarães e é considerado um dos grandes vultos da investigação histórica em Guimarães. Foi padre, jornalista, político (candidato a deputado; Vereador e Presidente da Câmara Municipal de Guimarães), investigador, historiador, arqueólogo e numismata, bem assim como um dos principais especialistas portugueses em paleografia, diplomática e epigrafia. A ele se deve o ressurgimento dos estudos de história local em Guimarães e o plano e elaboração da obra Vimaranis Monumenta Historica. A sua vida pública está marcadamente ligada à Sociedade Martins Sarmento, instituição a que pertenceu desde a sua criação, tendo sido Diretor por vários anos, assim como seu Presidente. Trabalhou, juntamente com Francisco Martins Sarmento, na organização do Museu Martins Sarmento, tendo também organizado o catálogo do referido núcleo arqueológico e participado na elaboração do Catálogo das Moedas e Medalhas portuguesas. Foi responsável pela criação da secção Fundo Local da Biblioteca da Sociedade Martins Sarmento.

José Sampaio18, Domingos Leite de Castro19, Avelino da Silva Guimarães20, Avelino Germano21, juntamente com Domingos Ferreira Júnior22, para além de fundadores da Sociedade Martins Sarmento23 e da concretização dos desígnios estatutários da Associação, empenharam-se no fomento do progresso social e económico de Guimarães, especialmente pela via do ensino. No concreto ano de 1884, tomam especial relevância as suas ações no domínio da publicação do primeiro número da Revista de Guimarães, periódico atualmente em publicação, e da concretização da primeira exposição industrial, de âmbito concelhio, realizada em Portugal, a Exposição Industrial de Guimarães de 188424. Demonstração de empenho da Sociedade Martins Sarmento – diretores e associados – na resolução da pretensão de Guimarães em ter uma escola industrial, a organização da exposição constituiu uma segura alavanca que sustentou o movimento de
18 CASTRO, Domingos Leite de – O nosso primeiro Presidente Revista de Guimarães. Vol. 17, n.º 1-2 (jan.-abr. 1900) 5-17.
José Bento da Cunha Sampaio (1841-1899), cursou Direito na Universidade de Coimbra, assim como seu irmão Alberto Sampaio, conviveu com os movimentos académicos de feição revolucionária da época e com importantes figuras das letras como Antero de Quental. Em Guimarães, exerceu a profissão de advogado e, em 1881, juntamente com outras personalidades vimaranenses, criou a Sociedade Martins Sarmento, instituição de que foi o seu primeiro Presidente.
19 ALMEIDA, Eduardo de – Os nossos sócios fundadores: Domingos Leite de Castro. Revista de Guimarães. Vol. 32, n.º 4 (out.-dez. 1922) 447454.
Domingos Leite de Castro (1846-1916), importante personalidade da cultura vimaranense, destacou-se pela sua intervenção na Sociedade Martins Sarmento, instituição da qual foi um dos fundadores, assim como na vida pública, nomeadamente na defesa do património local, na promoção da instrução e no desenvolvimento do concelho. A primeira exposição concelhia em Portugal, a Exposição Industrial de Guimarães de 1884, nasceu de uma proposta apresentada por Domingos Leite Castro, em 1882. Para além de ter sido um dos Fundadores e Presidentes da Sociedade Martins Sarmento, Domingos Leite de Castro desenvolveu uma intensa e diversificada intervenção na vida cívica vimaranense, tendo sido Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Guimarães, Presidente da Associação dos Proprietários e Lavradores de Guimarães, integrou o Sindicato Agrícola de Felgueiras, o Centro do Partido Progressista em Guimarães e fez parte de diversas Comissões de Recenseamento.
20 RORIZ, Gaspar – Dr. Avelino da Silva Guimarães. Revista de Guimarães. Vol. 19, n.º 1 (jan. 1902) 5-18.
Avelino da Silva Guimarães (1841-1901), cursou Direito na Universidade de Coimbra, foi um reconhecido e respeitado advogado vimaranense, tendo na Questão Seco e no conflito Braga-Guimarães, evidenciado as suas qualidades de lutador e de justiça. Foi Presidente da Câmara Municipal de Guimarães e da Sociedade Martins Sarmento, da qual foi também fundador. Elaborou trabalhos de natureza jurídica e sobre a temática da indústria e da agricultura. Colaborou na imprensa periódica vimaranense, assim como no Jornal do Comércio de Lisboa.
21 MEIRA, João de – Dr. Avelino Germano. Independente. A. 8.º, n.º 368 (26 dez. 1908) 1.
Avelino Germano da Costa Freitas (1842-1908), formado na Escola Médica do Porto, foi médico, professor de física e mecânica, na Escola Industrial de Guimarães, e um dos fundadores da Sociedade Martins Sarmento. Pela sua mão, no ano de 1866 e em Guimarães, foi diagnosticado o primeiro caso de pelagra em Portugal.
22 Domingos José Ferreira da Silva Guimarães Júnior (1849-1887) – foi negociante e militante do Partido Progressista, tendo integrado o Centro Progressista de Guimarães. Colaborou na imprensa periódica vimaranense e foi correspondente do Correio da noite e do periódico Província. Da sua vida associativa destaca-se a sua ligação à Sociedade Martins Sarmento, instituição de que foi um dos seus fundadores.
23 NEVES, António Amaro das Neves – Da Sociedade do Raio à Sociedade Martins Sarmento. [Guimarães]: [s.n.], 1998; NEVES, António Amaro das Neves – A Sociedade Martins Sarmento, a utopia realizada. Mais Guimarães. N.º 31 (nov. 2015) 32-36.
24 A indústria vimaranense: publicação da imprensa vimaranense comemorando a abertura da primeira exposição industrial de Guimarães. Folha única (1884); MEIRA, Joaquim José de; SAMPAIO, Alberto – Relatório da exposição industrial de Guimarães em 1884. Porto: Typ. de António José da Silva Teixeira, 1884.

reivindicação, constituído na sociedade vimaranense em favor da existência de uma instituição de ensino industrial. A Sociedade Martins Sarmento, para além da realização da Exposição Industrial de Guimarães, de que Alberto Sampaio25 foi a alma mater e Joaquim José de Meira26 co-relator, encetou várias ações, entre as quais a constituição de uma Comissão, formada pelo Conde de Margaride27 e pelo Barão do Pombeiro, no sentido de diligenciar, junto do Ministro das Obras Públicas, a desejada escola industrial. A antiga Associação Comercial de Guimarães e a Associação Clerical, a Associação Artística Vimaranense e a Câmara Municipal dirigiram também solicitações ao governo no mesmo sentido. Como resultado destas manifestações, é concedida a Guimarães a criação de uma Escola de Desenho Industrial (6 de maio de 1884), que abriu com a disciplina de Desenho Industrial, ministrada na altura por António Augusto da Silva Cardoso28, numa sala da Sociedade Martins Sarmento, que à altura funcionava numa casa contígua à de Francisco Martins Sarmento. Mais tarde, a 3 de dezembro de 1884, foi criada, por decreto, a Escola Industrial em Guimarães29, compreendendo as cadeiras de desenho, química e aritmética.
25 CARDOZO, Mário – Os nossos sócios honorários: Alberto Sampaio: a propósito do centenário do seu nascimento (1841-1941). Revista de Guimarães. Vol. 51 (1941) 185-194; MAGALHÃES, Luiz de – Alberto Sampaio e a sua obra. In SAMPAIO, Alberto – Estudos históricos e económicos. Porto: Chardron de Lelo Irmão, 1923. P. V-XXIX. Alberto da Cunha Sampaio (1841-1908), formado em Coimbra no Curso de Direito, como seu irmão José Sampaio, distinguiu-se pelo trabalho que desenvolveu na organização da Exposição Industrial de Guimarães de 1884 e pelos inovadores estudos históricos e económicos que produziu, de onde se destacam As vilas do Norte de Portugal e As Póvoas Marítimas
26 MARTINS, Francisco – Dr. Joaquim José de Meira – um símbolo da grei. O comércio de Guimarães. A. 49, n.º 4578 (24 jun. 1932) 1. Joaquim José de Meira (1858-1931) foi médico-cirurgião, nos Hospitais da Misericórdia e das Ordens Terceiras de S. Domingos e S. Francisco em Guimarães, professor, diretor da Escola Industrial e Comercial – Francisco de Holanda e uma importante figura da vida pública vimaranense, tendo sido Presidente da Câmara Municipal de Guimarães e Presidente da Sociedade Martins Sarmento. Foi, juntamente com Alberto Sampaio, o organizador do catálogo da Exposição Industrial de Guimarães, de 1884. Na prática da medicina cirúrgica, foi responsável pela realização do primeiro parto cesariano, em Guimarães, no Hospital da Misericórdia, em outubro de 1903.
27 NEVES, António Amaro das – Conde de Margaride. In 1884: o ano que mudou Guimarães. Guimarães: Sociedade Martins Sarmento, imp. 2010. P. 60-63.
Luís Cardoso Martins da Costa Macedo (1836-1919), conhecido por Conde de Margaride, foi Par do Reino, Governador Civil do Distrito de Braga e do Distrito do Porto, Presidente da Câmara Municipal de Guimarães e Procurador de Guimarães, na Junta Geral do Distrito de Braga. Personalidade com uma expressiva intervenção pública em Guimarães, pertenceu a diversas associações vimaranenses, tais como Sociedade Martins Sarmento, Irmandade de Nossa Senhora da Consolação e Santos Passos, Santa Casa da Misericórdia de Guimarães, Asilo de Santa Estefânia, Creche de S. Francisco, Oficinas de S. José e Ordem Terceira de S. Domingos.
28 CARDOZO, Mário – Os nossos sócios honorários: prof. António Augusto da Silva Cardozo (artista-pintor). Revista de Guimarães. Vol. 44 (1934) 209-216.
António Augusto da Silva Cardozo (1831-1893), cursou artes na Academia Imperial de Belas-Artes do Rio de Janeiro, foi pintor-retratista, precursor da fotografia em Guimarães e professor de desenho, desenho industrial. Quando da criação da Escola Industrial de Guimarães, foi nomeado pelo Governo primeiro professor de Desenho. Foi sócio honorário da Sociedade Martins Sarmento.
29 LAMEIRAS, Alberto – A Escola Francisco de Holanda e o sistema de ensino. In 1884: o ano que mudou Guimarães. Guimarães: Sociedade Martins Sarmento, imp. 2010. P. 200-207.

As linhas que aqui ficam são uma singela nota do muito que algumas das principais figuras que caraterizavam o meio erudito de 1884 fizeram pela sua terra. Um memento do que legaram e construíram em Guimarães e por Guimarães, no domínio da cultura, da educação, das instituições, do conhecimento, da investigação do passado, do desenvolvimento económico e social do concelho, nomeadamente desde a segunda metade o século XIX até anos trinta do século XX.
Um encontro de vontades
Casimiro Silva


O comboio e o caminho-de-ferro foram a mecha saída do sonho acelerado de uns utopistas de vontades sem fim, que geraram tantas estórias assentes na fé de que ninguém mais pararia o comboio. Mas não foi assim. E a narrativa atualizada do comboio em Guimarães prova-o: já não é uma história de sucesso; após permanentes adiares de futuro deixam os vimaranenses num apeadeiro sem futuro.

Chegada do comboio a Guimarães, 1884.04.14, in Memórias do Comboio de Guimarães: a história, o património e a linha / Casimiro Silva, Samuel Silva
Se há 140 anos a urbanidade em Guimarães se fez ao colo da modernidade, 1884 foi o ano de ouro de Guimarães. António Amaro das Neves, historiador, escrevia na revista do Jornal de Guimarães (março de 2024) que é “o primeiro capítulo do grande livro da cidadania vimaranense. Uma obra constante com o espírito comunitário, o trabalho e o esforço económico das gentes de Guimarães”.
A verdade é que, desde esse histórico ano de mutações profundas na urbe vimaranense (foram rasgados horizontes futuríveis na paisagem; muito para além das duas vilas plantadas à volta do castelo), passou-se a respirar uma paisagem dinâmica: o comboio circulando de um lado e os carros torneando o outro lado.
Aventuras de mãos dadas
Sendo certo que a proeza do comboio em Portugal começou em 1856, a verdade é que só em 1865 há sinais de olhar com atenção para esta nova realidade por terras afonsinas, com o presidente de câmara, António Alves Carneiro, a avançar para a formulação do desejo de concretização de uma linha férrea ligando

as cidades de Guimarães, Porto e Braga. Era o momento histórico da ação num território que, mais do que ter o seu comboio, queria desenvolver-se, libertando-se dos muros que o prendiam a uma centralidade vaidosa e pomposa intramuros.
Se dúvidas existem sobre este desejo intenso de futuro, importa vincar que por essa altura no coração da urbe afonsina foram dados um conjunto de abraços entre pessoas grandemente empenhadas no desenvolvimento local e instituições que eram motores de vontades e desejos de afirmação bairrista. Dando, assim, respostas ao “indiferentismo dos governos para com Guimarães” – como se escrevia no jornal “Comércio de Guimarães”, de 22 de outubro de 1884.

Chegada do comboio a Guimarães, 1884.04.14, in memórias do comboio de Guimarães: a história, o património e a linha / Casimiro Silva, Samuel Silva
Em suma, este é um tempo em que a forte solidariedade entre as forças vivas da cidade escrevessem os últimos anos do século XIX como profundamente concretizadores. Primeiro, com a realização da Exposição Industrial de Guimarães – aberta solenemente ao público no palácio de Vila Flor no dia 15 de junho de 1884, procurando expor a capacidade industrial local e incitar os industriais para a modernização tecnológica, reclamando a criação de uma escola industrial. Depois de, uns metros acima, à estação de Vila Flor, ter chegado o primeiro comboio de exploração comercial, no dia 14 de abril desse ano.
Inação e perda
A juntar ao facto de o transporte individual ter começado a ocupar, lenta, mas progressivamente, demasiado espaço, a verdade é que, em Guimarães, a ferrovia não soube (ou não foi capaz de) modernizar-se.
Não espanta que quando a ligação ferroviária de Guimarães a Fafe foi encerrada – 31 de maio de 1986 – muitos cidadãos do berço da nação e da sala de visitas do Minho tenham vivido uma realidade de choro e raiva.
Vale a pena recordar um texto de Samuel Silva publicado na edição online (28 julho de 2007) de o

ocomboio.net:
O presidente da Câmara Municipal de Fafe, José Ribeiro, revelou-se arrependido do acordo que levou à extinção da ligação ferroviária que servia a cidade. Durante a cerimónia evocativa do centenário da chegada do comboio a Fafe, José Ribeiro, à época vereador, afirmou que “se hoje tivesse que decidir, tomaria uma decisão diferente. Não estaria de acordo”.
Guimarães (e a sua linha férrea) perdeu, nos últimos 30 anos, muita da importância que teve na organização social e regional e no desenvolvimento das diferentes comunidades ao longo da linha de caminho-deferro, bem como na acessibilidade entre as cidades de Guimarães e Porto. É que, à exceção do sul do município, o território vimaranense perdeu a dinâmica ferroviária, que se movimenta, agora, no carro individual.
Rodovia ganha à ferrovia
O futuro – o tal devir que há 140 anos catapultou o território que viu nascer Portugal para o futuro –tem que fazer-se de novas e melhores apostas na ferrovia. Ou seja, impõe-se que uma cidade que vive a intensidade do século XXI tem que ter comboio em condições de qualidade de utilização.
Não deixa de ser imperativo pensarmos que as cidades já não comportam a entrada no seu seio de milhares de automóveis diariamente com as crescentes dificuldades de circulação, estacionamento e poluição do ar que respiramos.
Só que Guimarães perdeu ligações, qualidade e capacidade de diminuição do tempo de viagem.
Pensemos na estúpida decisão de não aumentar a capacidade da via, aquando da reconversão nascida do Euro 2004. Um erro político crasso que dinamitou a possibilidade de rasgar novos horizontes sustentáveis.
E, por estes dias violentos que não param de assolar o futuro da Humanidade, vamos vendo notícias –que, a confirmarem-se na ação, serão soluções de respeito pela memória de quem há 140 anos olhou para Guimarães com os olhos do devir. Mas são tantas as inquietações! Exemplo disso é o “comboio do século XXI”, entre Porto e Vigo – a acontecer até 2030.
Parece que já pouca gente acredita em tal realidade. Pelo menos olhando para estas palavras do presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), António Cunha: “Temos de ter uma permanente atenção para que este assunto esteja sempre na agenda. Para que, em 2030, já haja pelo menos uma parte da ligação”.


Da Escola Industrial à Escola Secundária Francisco de Holanda: a procura da identidade
José Alberto Lameiras
Implantação da Escola
A génese da actual Escola Secundária Francisco de Holanda ascende ao período liberal. Na segunda metade do século, com o governo regenerador, assiste-se, no plano político, à adoção de medidas tendentes à implantação definitiva do liberalismo traduzidas, ao nível da instrução, na consolidação das políticas educativas ligadas ao ensino industrial, tanto mais que a consciência político-económica da época identificava a indústria como o sector prioritário na resolução das dificuldades que então se faziam sentir no país. É deste período que se assiste à reorganização do ensino industrial e com ela à criação de escolas elementares. As linhas desta reforma são traçadas no Decreto de 20 de Dezembro de 1864, que estabelece, no art.º 9º, “… escolas industriais em Guimarães, Covilhã e Portalegre, e no futuro nas mais terras do reino que pela sua importância fabril carecerem delas”. Passados vinte anos sobre a publicação deste decreto, muito do que nele se estabelecia era letra morta, mantendo-se tudo por fazer neste sector de ensino e, no que a Guimarães dizia respeito, não se vislumbrava qualquer indício de criação da tão desejada escola industrial. A reformulação do ensino técnico esteve sempre na agenda dos sucessivos ministros com a tutela da instrução. O ministro António Augusto de Aguiar, com a publicação do Decreto de 3 de Janeiro de 1884, reitera a profissão de fé no ensino industrial: “O trabalho e a indústria, hoje completamente emancipados, devem estar aptos a produzir em condições indispensáveis de barateza e perfeição, não podendo esta aptidão ser adquirida senão pela instrução dada aos trabalhadores nas escolas especiais com uma feição eminentemente prática”. É justamente este decreto que indigna a sociedade civil vimaranense da época, pois, ao mesmo tempo que caía no esquecimento o cumprimento do decreto de 1864, Guimarães não constava da lista das novas escolas de Desenho Industrial. O movimento cívico vimaranense desdobra-se em iniciativas: são inúmeras as solicitações e requerimentos às entidades nacionais, feitas pelas direcções da Sociedade Martins Sarmento, da Associação Comercial e Industrial, da Associação Artística Vimaranense, da Associação Clerical, da Câmara de Guimarães. Em todas as acções pôde ler-se a mesma determinação e vigor das reivindicações que, no

passado recente, esta geração de ilustres vimaranenses tinha exercido, e com grandes benefícios para o progresso de Guimarães, traduzindo-se, também agora, na reedição do articulado do decreto de 1864, agora no diploma de 3 de Dezembro de 1884. A consequência imediata foi, desta vez, a concretização do disposto no decreto, ao ser entregue a regência da disciplina de Desenho a António Cardoso, o primeiro professor, ao mesmo tempo funcionário de secretaria e muito mais.
Dois anos depois, encontramos as primeiras grandes premissas teóricas da organização do ensino industrial e comercial em Portugal, vincando o carácter essencialmente prático do ensino, o qual deverá ser acompanhado do trabalho manual apropriado às necessidades de cada especialidade, em oficinas anexas às escolas. Apesar do grande alcance destas e doutras medidas que se contêm na vasta legislação publicada, o ensino técnico continuava a marcar passo, por motivo de limitações de ordem económica e por manifesta incompetência dos dirigentes de então, para quem a solução dos problemas nacionais do ensino consistia na criação ou supressão de escolas, ou na alteração dos programas e na imitação servil do que se fazia “lá fora”, sem atender às capacidades e necessidades da sociedade portuguesa. Não é, pois, de admirar que o agravamento da situação económica do País no final do século passado, impedisse a realização de medidas mais amplas no campo da instrução. Em 1891, o ministro João Franco, o mesmo que havia sido eleito deputado por Guimarães pelo partido Regenerador, elabora nova reforma, “cuja importância, sempre indiscutível, assume neste momento ainda maiores proporções pela necessidade que o país tem, para resolver a sua questão económica, de preparar convenientemente a educação profissional das classes trabalhadoras, nas suas diversas graduações”, cabendo às escolas industriais a função de ministrar o ensino do Desenho e os conhecimentos teóricos necessários a operários e aprendizes, bem como o ensino profissional completo. Reorganiza também as escolas elementares de comércio, destinadas a ministrar em cursos nocturnos a instrução elementar, prática geral e profissional aos empregados no comércio e, em geral, a todas as pessoas que quiserem frequentá-las. A reforma de João Franco, nos finais do século XIX, substitui o curso secundário de seis anos, dividido num curso geral de quatro anos e num curso complementar de dois, dividido por letras e ciências, por um curso de sete anos e uniforme. Em 1905, houve alterações à reforma, organizou-se o ensino técnico e estabeleceu-se a bifurcação do curso complementar em Letras e Ciências, o que foi mantido até à Reforma de 1936, que estabeleceu um curso geral de seis anos e um curso complementar de apenas um ano. Chegada a República, a persistência consolidada de um ensino burguês de cariz liberal, herdado das reformas setembrista e regeneradora, traduzia-se, ao nível do Estado, no fraco investimento no ensino, que

conjugada com as dificuldades conjunturais europeias, devidas, em grande medida, aos efeitos da primeira guerra mundial, repercutia-se nas dificuldades do ensino evidenciadas no insuficiente número de professores devidamente preparados, por falta de políticas de formação para a docência, e na falta de edifícios escolares.
Em Guimarães, o panorama também não é animador. A ambicionada escola industrial de ensino teórico e prática destinada a cumprir com as determinações que o decreto de 3 de Dezembro de 1884 havia definido, estava longe de se concretizar. Antes de mais porque não estavam criadas as condições logísticas para acomodar o equipamento didáctico e, por isso, faltavam os espaços para as actividades práticas: a escola continuava a penitência da “via sacra”, ocupando, a título precário, espaços pouco adequados ao ensino, sendo, nalguns casos, preterida a outros interesses, quiçá, de maior importância política, na época. A situação mais evidente da fraca valorização da instrução pelo poder político verificou-se em 1911, quando a escola, iniciada a sua construção, em 1889, pela câmara, depois de contracção de “empréstimo municipal no valor de 7.000.000 reis (7 contos) com juros de 4% isento do imposto de rendimento, que é de 4,05%”, foi remodelada para aí ser instalado o quartel de infantaria nº 20. De novo, o desejado ensino prático oficinal teve de ser adiado e os materiais didáticos iriam continuar encaixotados: “As máquinas de fiação ainda ali estavam, em caixotes, em 1941. Depois foram vendidas à Fábrica da Senhora da Hora”, Craveiro, José, 1984, Centenário da Escola Secundária Francisco de Holanda, pp.16-17.
A saída das tropas do Proposto permitirá, finalmente, em 1923, a conclusão dos trabalhos de construção da Escola Industrial, iniciados 27 anos antes, e a instalação da escola Francisco de Holanda no edifício, que constituí uma parte das actuais instalações. Para assinalar a inauguração de tão importante edificação, na época, pelo menos para a população vimaranense, a escola dos campos do Proposto foi palco da 2ª exposição industrial e agrícola do concelho. E, de novo, tal como em 1884, estes dois momentos marcantes da Escola Francisco de Holanda ficarão ligados de forma indelével à actividade económica do concelho: em 1884, a 1ª exposição industrial de Guimarães impulsionara (e pressionara) a entrada em funcionamento da escola que o decreto de 20 de Dezembro de 1864 tinha criado; em 1923, realizou-se a exposição industrial e agrícola no novo edifico, dando início a uma nova fase da vida da Escola Francisco de Holanda, que não era senão a de dar cumprimento aos objectivos para os quais havia sido criada em 1864 - a contribuição para a melhoria da actividade produtiva da região, através da formação técnica e prática dos alunos em espaços oficinais adequados. No entanto, em 1910, este desígnio estava ainda longe de ser concretizado. Eduardo de Almeida, director da Sociedade Martins Sarmento, de então, lamentava, em artigo de opinião, no nº XXV da Revista

de Guimarães, a situação em que se encontrava a qualidade de ensino na escola Francisco de Holanda, constatando que “infelizmente não é animadora a leitura dos mapas de frequência à escola industrial. A maior parte é dos que não têm profissão e lá não a adquirem – porque a escola é unicamente industrial em nome” (1910: 110).
Com a criação do Ministério da Educação Nacional, em 1933, durante o Estado Novo, as políticas educativas mantêm o legado escolar do liberalismo e da República, mas sem ousadias inovadoras, e, antes, refreando a expansão do sistema de ensino. Contrariamente ao liberalismo e ao republicanismo que procuraram, sem grande sucesso, estimular a procura social da educação através de uma maior oferta institucional, o salazarismo esforçou-se por controlar o crescimento do sistema de ensino, não facilitando o investimento da escola como lugar de mobilidade social, em que as práticas de doutrinação estão presentes: obrigatoriedade de afixar certos pensamentos nas escolas e determinados trechos nos livros escolares, imposição do “livro único”, a organização física do espaço, a escolha do material didáctico. A par da estratégia de contenção, reflectida numa escolaridade mínima de três anos, comprometendo a continuidade dos estudos, o Estado Novo prossegue políticas de separação, que se manifestam pelo menos em três planos. Em primeiro lugar, na crítica à coeducação e na imposição do regime de separação dos sexos nos vários níveis de ensino. Em segundo lugar, na recusa da escola única, tendo em conta a necessidade de encaminhar cada um segundo as suas “aptidões naturais”. Em terceiro lugar, na manutenção de um sistema elitista, com patamares bem definidos entre o primário, o secundário e o superior, e claramente estratificado do ponto de vista social. A escola deve revigorar o lugar de cada um na ordem social em vez de alimentar pretensões a uma mudança de posição, como Salazar explica num discurso pronunciado no dia 12 de Maio de 1935: «Oiço muitas vezes dizer aos homens da minha aldeia: Gostava que os pequenos soubessem ler para os tirar da enxada. E eu gostaria bem mais que eles dissessem: Gostaria que os pequenos soubessem ler, para poder tirar melhor rendimento da enxada. Precisamos de convencer o povo de que a felicidade não se consegue buscando-a através da vida moderna e dos seus artifícios, mas procurando a adaptação de cada um às características do ambiente exterior”. E este conservadorismo elitista e de fraca mobilidade social reflectiam-se, na sociedade vimaranense, de modo bastante acentuado na diferenciação de prestígio social dos dois estabelecimentos de ensino da cidade que as reformas do ensino liceal (1947) e do ensino técnico (1948) haviam distinguido. A Escola técnica, mais prática, com currículos de menor incidência teórica, tinha objectivos claros de profissionalização e de consequente satisfação das necessidades do mercado de trabalho com operários

qualificados, quando muito de quadros médios; o liceu, mais tradicional e elitista, de feição teórica vincadamente “humanístico-científica”, procurava satisfazer as exigências de dois mercados de trabalho: o do funcionalismo público ao nível da habilitação do curso geral e o de quadros técnicos superiores e profissões liberais, por via da Universidade. Esta diferenciação de dois quadro-tipos de estudantes era o prolongamento da sociedade de então, reflectindo os modelos e padrões sociais de uma sociedade elitista e conservadora. A partir de 1961 são introduzidas várias medidas no ensino secundário: O prolongamento da escolaridade obrigatória para seis anos, em 1964, as alterações na própria estrutura do sistema de ensino, nomeadamente com a criação do ciclo preparatório do ensino secundário, em 1967. Durante a primavera marcelista, com Veiga Simão (1970-1974), fazem-se experiências de modernização do sector da educação: dinamização da educação pré-escolar, alargamento da escolaridade obrigatória para seis anos, reorganização do sistema de formação de professores. A agenda política, neste período, é marcada ainda pela tentativa de articulação entre a escola e o mundo do trabalho apostando na modernização do sistema de ensino e na formação de professores, devidamente articulados com os sectores industrial, e na qualificação dos recursos humanos para enfrentar os desafios europeus, apesar da persistência de uma sociedade bloqueada por um poder político conservador, na qual continuam a existir entraves fortíssimos à democracia e à participação cívica e política.
Após o 25 de Abril, as principais alterações operadas na estrutura do ensino secundário verificaram-se na unificação do curso geral (1975), na implantação de cursos complementares de via única para os dois ramos de ensino (1978) e a criação do ensino técnico-profissional (1983). A unificação do curso geral do ensino secundário foi iniciada no ano lectivo de 1975-76 e visava três objectivos fundamentais: um objectivo social de igualdade de oportunidades; a actualização de processos e métodos pedagógicos; o reforço da função social da escola com a sua abertura à comunidade. Em 1978, procede-se à reestruturação dos cursos complementares procurando-se eliminar as duas vias até aí existentes: ensino liceal e ensino técnico. As vicissitudes conjunturais e as sucessivas reestruturações curriculares recolocaram o problema que havia atravessado a história do nosso ensino: as dificuldades de formação de qualificações profissionais intermédias para servir as solicitações das actividades económicas. Em 1983, no âmbito do ensino secundário complementar, é implementado um plano de emergência e para a falta de articulação entre a teoria e a prática, com a criação dos cursos técnico-profissionais de cariz profissionalizante, juntando-se, a partir de 1989, as escolas profissionais.

As dificuldades do ensino técnico e profissional
Ao longo de todo o processo de implantação da escola industrial, em 1884, até aos nossos dias, tem sido recorrente a dificuldade de recrutamento de jovens para o ensino técnico e profissional. Um dos aspetos fundamentais que justificam a fraca procura deste nível de ensino relaciona-se com a cultura e mentalidade, uma característica estrutural da identidade nacional. Desde o período dos descobrimentos, no século XV, que os mais diversos pensadores se têm debruçado sobre o assunto. As cartas sobre Portugal, de 1533 a 1546, do humanista flamengo Nicolau Clenardo, denunciam a falta de gente para o exercício das artes mecânicas:
“Se algures a agricultura foi tida em desprezo, é incontestavelmente em Portugal. E, antes de mais nada, ficai sabendo que aquilo que faz o nervo principal duma nação é aqui duma debilidade extrema; para mais, se há algum povo dado à preguiça, sem ser o português, então não sei eu onde ele exista. Falo sobretudo de nós outros, que habitamos além do Tejo, e que respiramos de mais perto o ar de África. Se uma grande quantidade de estrangeiros e de compatriotas nossos não exercessem cá as artes mecânicas, creio bem que mal teríamos sapateiros, ou barbeiros”. (Clenardo, 1926: 271)
No mesmo sentido, os humanistas Sá de Miranda e Francisco de Holanda destacaram a importância histórica de garantir uma educação e formação adequadas em áreas técnicas e profissionais, a fim de promover o crescimento económico e a independência nacional. Ciente desta necessidade autárcica, em particular a dependência crescente da Inglaterra, o Marquês de Pombal promove, em meados do século XVIII, o ensino técnico e profissional vindo a ser incrementado durante toda a segunda metade do século XIX, a partir de Fontes Pereira de Melo, para o ensino agrícola e para o ensino industrial. Contudo, o seu desenvolvimento, na prática, só ocorreu de forma significativa a partir dos anos 50 do século XX. O século XIX foi ainda um período de grande reflexão e crítica de Eça de Queirós e Oliveira Martins os quais compartilham uma visão crítica sobre as razões do atraso de Portugal, embora utilizem abordagens diferentes: enquanto Oliveira Martins se concentra em análises históricas e socioeconómicas, Eça de Queirós utiliza a literatura para criticar e satirizar a sociedade de sua época. Ambos enfatizam a necessidade de reformas profundas, sejam elas sociais, políticas ou culturais, para que Portugal pudesse alcançar um desenvolvimento sustentado e moderno. As suas críticas continuam relevantes, servindo como reflexões sobre os desafios históricos enfrentados pelo país. No século XX, a preocupação com o atraso económico constituiu a preocupação de pensadores com

relevo para António Sérgio. Na linha da Geração de 1870, e indo de encontro às reflexões dos autores seiscentistas – Severim de Faria e Ribeiro de Macedo – sustentam a importância de mobilizar os meios materiais e humanos, com relevo para a educação, a cultura ou a ciência, para promover o desenvolvimento do país, a que chamou de política de fixação.
Não obstante o ensino técnico e profissional ter assumido sempre um grande relevo histórico, económico e social, a mobilização dos jovens para o ensino técnico e profissional continua a ser estruturalmente deficitária. A selecção dos alunos para este ensino ocorre(u) de forma predominante nas classes populares e entre os alunos mais mal preparados, sendo mesmo frequentado, até à reforma de 1948, por alunos de todas as idades e mesmo analfabetos, a partir da qual passou a ser exigida a 4a classe para a frequência do ensino profissional. Contudo, os alunos tinham de optar ou por esta via ou pela liceal com 10 anos de idade criandose um sistema de seleção (por conseguinte de reprodução social) em idade demasiado precoce até porque não existia qualquer permeabilidade entre estes dois níveis de ensino. A diferenciação fez-se ainda (e sobretudo) pelas representações sociais positivas associadas ao ensino liceal por oposição às representações estigmatizadas do ensino profissional30. O estigma social desencoraja os jovens a considerar o ensino profissional, mesmo que tenham interesse e aptidão para essa área. Indicativo desta relação dicotómica entre ensino liceal e ensino profissional manifesta-se na forma como a sociedade vimaranense perceciona(va) os dois estabelecimentos de ensino: a participação nas festas nicolinas estava vedada à participação dos estudantes que não frequentassem o liceu; os alunos candidatos ao primeiro ano do ensino secundário, preferindo maioritariamente o liceu, realizavam o exame de admissão aos dois estabelecimentos de ensino (escola e liceu) para o caso de aí não terem vaga.
As dificuldades sentidas, a nível nacional, para fazer do ensino técnico e profissional um nível de formação crucial ao sucesso económico, cultural e social é igualmente sentido pela escola Francisco de Holanda, desde a sua criação. A atração de jovens para o ensino profissional, de forma premente as áreas de
30 A diferenciação estabelecia-se ainda por outros aspetos: 1) a composição curricular do ensino liceal era mais teórica e com predomínio de cadeiras de cariz humanístico-científico, enquanto o currículo do ensino profissional era mais prático e com o qual se pretendia, fundamentalmente, desenvolver o saber fazer prático e o desenvolvimento da destreza manual; 2) o ensino liceal era a via escolhida pelas classes médias altas e altas e o técnico pelas classes médias baixas e populares; 3) quanto aos destinos dos alunos (saídas profissionais) verificavam-se diferenças marcantes, enquanto os alunos que seguiam a via liceal se encaminhavam de forma dominante para a Universidade e depois para exercer funções em lugares profissionais de topo na estrutura de emprego, os alunos do ensino profissional eram preparados para desempenhos bem determinados na estrutura de emprego sendo diminuto o acesso ao ensino superior mesmo que de nível politécnico;

mecanotecnia e têxteis, foi um dos principais objetivos que estiveram na origem da 1ª semana aberta, realizada no ano letivo de 1980-81.
Neste período, a escola Francisco de Holanda é identificada, a nível nacional, como uma escola de referência, correspondendo, a nível local, a uma grande procura, por parte da população escolar, desta prestigiada instituição. A década de oitenta e os primeiros anos da década de noventa foram anos de grande projeção da Escola cujos méritos se deveram à ocorrência cumulativa de vários fatores: a) a forte relação da escola com a comunidade, anualmente concretizada pela realização, ininterrupta, desde 1981, das edições das Semanas Abertas, um evento de projeção e referência nacional das boas práticas educativas e de envolvimento da comunidade, vincadamente sublinhadas na declaração de intenções dos primeiros promotores31; b) o fim do elitismo e subalternidade da escola técnica face ao liceu com a unificação do curso geral (1975) e da implantação de cursos complementares de via única para os dois ramos de ensino (1978), determinante para o aumento significativo da procura do ensino “regular”, permitirá a democratização do acesso à educação e à igualdade de oportunidades de mobilidade e promoção social de todos os estudantes, acabando com as situações discriminatórias de base socioeconómica, consubstanciadas na existência de duas vias perfeitamente díspares na sua dignidade social, cultural e educativa, com reflexos na definição prematura de escolhas e do estaticismo social; c) a condição de escola centenária, com grandes benefícios decorrentes da estabilidade do pessoal docente e discente, refletindo-se, ao nível dos órgãos de gestão e administração, na persistência das mesmas linhas de orientação, inovando.
Contudo, os esforços desenvolvidos pela Escola para tornar o ensino técnico e profissional um ramo de ensino mobilizador das escolhas dos jovens continua a ser difícil de concretizar: a selecção dos alunos continuar a ser feita entre os jovens dos níveis sociais mais baixos e entre os alunos com piores notas, durante o ensino básico, parece persistir; o lugar de referência e prestígio da Escola Francisco de Holanda tarda em fazer-se através do ensino profissional logo se pode concluir que o estigma negativo ainda persiste. Para superar essas dificuldades, é importante destacar as vantagens e oportunidades oferecidas pelo ensino profissional, fornecer informações claras e acessíveis sobre os cursos disponíveis, desafiar estereótipos negativos e oferecer apoio financeiro e orientação adequada aos interessados. Além disso, é fundamental que haja
31 “decidimos que a Semana Aberta deve corresponder a um abrir de portas de par em par no sentido de a região poder avaliar o trabalho que se realiza nesta Escola Centenária e (…) procuramos lançar as bases dum entendimento com o poder autárquico, no sentido de encontrarmos soluções ajustadas e realistas para a ocupação dos tempos livres para a nossa juventude”.

uma colaboração eficaz entre as escolas, as empresas e outros parceiros relevantes para garantir que os cursos profissionais atendam às necessidades do mercado de trabalho e ofereçam perspetivas de carreira promissoras para os estudantes.

Nos 140 anos da Revista de Guimarães
Antero Ferreira32


A Sociedade Martins Sarmento (SMS) foi fundada em 1881, por iniciativa de um grupo de vimaranenses que pretendiam homenagear o sábio arqueólogo Francisco Martins Sarmento. O seu principal lema, inscrito nos estatutos, era a promoção da instrução popular. Dando corpo a esse desígnio, a Sociedade, logo nos primeiros anos de atividade, criou um instituto escolar e cursos noturnos, ao mesmo tempo que dinamizava conferências e uma biblioteca popular.
Esta aposta na instrução surpreendeu alguns espíritos que, segundo Avelino da Silva Guimarães, segredavam:
“estão doidos! (…) Querem a desordem social, a comuna, Alcoy33, a mão negra! A esta desconfiança, o mesmo autor, contrapunha estas palavras de grande atualidade: Esqueciam que as classes trabalhadoras não se rebelam porque as domina a luz da instrução. (…) As classes mais perigosas foram sempre as que se subvertem numa ignorância crassa, a quem um ambicioso hábil e instruído facilmente agita…”
Em reunião de Direção, realizada em 7 de fevereiro de 1883, foi aprovada a proposta de criar uma revista, que viria a ser o órgão científico-cultural da SMS. Recebeu o nome de Revista de Guimarães porque, no dizer dos seus fundadores, tinha como principal objetivo divulgar o que se fazia e produzia em Guimarães.
A Direção da Revista coube, inicialmente, a Domingos Leite de Castro, que tinha recebido o encargo de lançar o primeiro número até ao final do mandato da Direção. O modo como orientou este encargo é descrito com algum humor por Avelino da Silva Guimarães, no texto “Razão de ordem para o futuro boletim” : não o acanhou a ditadura; pelo contrário exerce-a com a energia e o desembaraço de um ditador de rija têmpera. Não interroga sobre o que a cada um apeteça escrever; é ele quem impõe a lei.
Nesse primeiro número, detalha-se pormenorizadamente o programa da Revista:
32 Presidente da Sociedade Martins Sarmento - antero.ferreira@msarmento.org
33 Revolta de Alcoy (Alicante, Espanha), 9 de julho de 1873, também conhecida como Revolução do Petróleo. Uma manifestação operária em busca de melhores condições laborais acabou num sangrento confronto, no qual foi assassinado o alcaide Agustí Albors.

“estudar a fundo as condições da vida tendo em vista a promoção do progresso da cidade e da região.
Afirmavam que para conhecer um povo é necessário estudá-lo nas manifestações da sua vida material e moral e no seu meio físico. Só assim obteremos o conhecimento exato de todas as circunstâncias que podem modificar num ou noutro sentido a nossa forma de operar como sociedade de instrução. E concluíam: Teremos justificado o título que adotamos? É realmente uma Revista de Guimarães que nós fazemos, é pela sua prosperidade que nos dedicamos, são as suas condições de vitalidade que vamos estudar e documentar, é Guimarães que procuramos fazer conhecida e estimada pelo resto do país”.
Mas, ao mesmo tempo, surgia já outra interrogação, que prenunciava futuros alargamentos: serão, porventura, diferentes das nossas as condições do resto do país, de forma que o estudá-las em Guimarães não tenha préstimo senão aqui?
Além da “Introdução” e da “Razão de Ordem para o futuro boletim…”, este primeiro fascículo da Revista contava ainda com dois assinaláveis artigos. O primeiro, de Alberto Sampaio, intitulado Resposta a uma pergunta: convirá promover uma exposição industrial em Guimarães?; e o segundo, do seu irmão, José Sampaio, iniciando uma série, Os nossos sócios honorários, com um texto dedicado a Francisco Martins Sarmento.
A Revista prosseguiu a sua publicação até 1913, cumprindo o seu propósito inicial, como sintetizava Joaquim José de Meira, em 1921: “Embora por vezes outros interessantes assuntos nela fossem versados, forçoso é reconhecer que na sua máxima parte se tratou ali do que mais interessava à cidade e concelho de Guimarães. Da sua arqueologia, da sua história, dos problemas da sua agricultura, das suas instituições e monumentos, da sua instrução, das suas indústrias, da sua higiene, de tudo isso houve quem particularmente ali se ocupasse”.
Neste período de trinta anos, contando com a participação de ilustres intelectuais portugueses, como Joaquim de Vasconcelos, José Leite de Vasconcelos, J. Henriques Pinheiro ou Abel de Andrade, avultam os autores vimaranenses, como Martins Sarmento, Alberto Sampaio, José Sampaio, Domingos Leite de Castro, Avelino da Silva Guimarães, Abade de Tagilde, Avelino Germano, José de Freitas Costa, João de Meira.
Entre 1913 e 1921 a Revista suspendeu a sua publicação. Joaquim José de Meira relacionava esse hiato com o desaparecimento do último dos fundadores, Domingos Leite de Castro, que tinha falecido em 1916. Mas as mudanças políticas que sucederam em Portugal, com o fim da Monarquia e a implantação do novo regime republicano, tiveram também, certamente, muita influência nesta suspensão.
A Revista retoma a sua publicação em 1921, sob a direção de Eduardo de Almeida. Desde essa data não

mais deixou de se publicar. A Sociedade Martins Sarmento honra assim o desígnio dos fundadores que, no primeiro número, afirmavam que ao fundar a Revista, não contavam que ela morresse amanhã…
Num balanço efetuado, em 1994, o então Diretor da Revista e Presidente da Direção, Joaquim Santos Simões, chamava a atenção para esta longevidade, assinalando que a edição de uma publicação periódica com estas características, numa cidadezinha periférica, pode considerar-se, no mínimo, um ato de coragem. Na altura quantificava essa coragem pelo número de volumes editados e pelas valiosíssimas colaborações angariadas nas mais variadas áreas científico-culturais.
De facto, o projeto da revista ultrapassou em muito o programa inicial. No primeiro número, os promotores da revista afirmavam, com alguma ironia, que uma publicação destinada a tratar as grandes questões da filosofia, da ciência ou da arte, feita em Guimarães, seria de «fazer rir as pedras» … Acabaram traídos pela sua excessiva modéstia: a Revista de Guimarães, ao longo dos anos, afirmou-se como um periódico científico de excelência, transpondo, inclusivamente, as fronteiras portuguesas! Na realidade, nos dias de hoje (julho de 2024), a Revista de Guimarães será, muito provavelmente, a mais antiga revista científica portuguesa em publicação, mantendo uma assinalável atividade.
Nota:
Todos os volumes desta centenária revista estão disponíveis para consulta livre na Internet, no endereço: https://www.csarmento.uminho.pt/revista-de-guimaraes/
Bibliografia:
DUARTE, Salomé; FERNANDES, Ana. Apresentação. Revista de Guimarães. Guimarães: Sociedade Martins Sarmento, 2016. Ed. fac-similada do vol.1, n.º 1 (jan. 1884).
GUIMARÃES, Avelino da Silva Guimarães, Razão de ordem para o futuro boletim, Revista de Guimarães, 1(1) Jan.Mar. 1884 p. 1-24
[URL: https://www.csarmento.uminho.pt/site/s/rgmr/item/53322]
Introdução, Revista de Guimarães, 1(1) Jan.-Mar. 1884 p. I-VII
[URL: https://www.csarmento.uminho.pt/site/s/rgmr/item/53321]
SIMÕES, Joaquim Santos, Apresentação, Revista de Guimarães, 104, 1994, p. 9-10
[URL: https://www.csarmento.uminho.pt/site/s/rgmr/item/59010]

O Comércio de Guimarães completou 140 anos Direção do Jornal
O Comércio de Guimarães completou no passado dia 15 de Maio, 140 anos.
Este jornal vimaranense, cuja primeira edição remonta a 1884, é o mais antigo jornal do distrito de Braga e integra um restrito grupo de cerca de quatro dezenas de jornais centenários que se editam atualmente em Portugal.
O Comércio de Guimarães surgiu num ano de grande dinamismo da sociedade vimaranense, marcado por diversos acontecimentos que estão ligados entre si.
Com efeito, foi em 1884 que se realizou em Guimarães a primeira Exposição Industrial; foi nesse mesmo ano que chegou a Guimarães o caminho de ferro e ainda nesse ano, foi criada a Escola Industrial e Comercial, atualmente designada de Escola Secundária Francisco de Holanda. Acresce que também em 1884 foi editado o primeiro número da Revista de Guimarães pela Sociedade Martins Sarmento.
É neste contexto que na sua primeira edição e na sua primeira página, O Comércio de Guimarães assumia o seu objetivo:
“O Comércio Guimarães armando-se para a vida pública no momento em que muitos desertam por desiludidos


ou desertam por desnecessários, precisa justificar-se publicamente da razão de ser da sua existência e da oportunidade do seu aparecimento. Começa, pois, por declarar que, distanciado dos multíplices partidos em que se divide a política ativa, pertence, contudo, à grande família liberal portuguesa cujas tradições são a melhor garantia das suas esperanças.
Não supõe valer mais do que uns, nem ter ilusões mais arreigadas do que outros: julga apenas que advogar «à tort et à travers» os atos e interesses de uma dada fação política com o manifesto prejuízo dos interesses gerais; que divulgar, segunda conveniência própria, as mais avançadas fórmulas económicas sem menosprezo das regras da moralidade mais subida; que defender a agricultura cujo atrofiamento a emigração antecipa; que proteger a indústria contra importação e o comércio contra o livre câmbio, é muito para as condições do nosso meio social, é muitíssimo para afirmação das nossas exigências públicas; mas é insuficiente para a orientação dos espíritos mas é de um resultado nulo para as pequenas cidades que a centralização afasta do progresso, e que os recursos próprios desviam do movimento.
O Comércio Guimarães conservando-se alheio a qualquer filiação partidária que não seja das conveniências locais e das grandes medidas de interesse comum, louvará em uns e outros o que em cada um houver de louvável, empregando todos os seus esforços para que uma parcela do poder central vele pela prosperidade da terra que lhe é berço e por tudo que, direta ou indiretamente, possa influir no aumento dessa prosperidade.
Em política geral não terá cor, terá consciência: em política local não teria amigos, terá justiça. Deixa aos declamadores a discussão das supremacias políticas e a insolúvel resolução das insolúveis finanças nacionais: não discutirá a oportunidade do imposto se sua distribuição for equitativa e a sua cobrança regulada pelas normas da mais estrita moralidade.
Será pelo oprimido contra o opressor quando este representar a prepotência e aquele a humilhação ou fatalidade; defenderá a integridade do território contra as ambições estrangeiras e será pelo povo contra os corrilhos e pelos corrilhos contra o despotismo. Quer melhoramentos proporcionais aos recursos financeiros; quer a justiça sem coação, a lei sem ambiguidades, a liberdade sem escrúpulos, a instrução sem limites, a imprensa sem dependências, tudo que tende a dar ao povo a razão dos seus direitos e a razão os seus deveres, tudo que faça das consciências o espelho da humanidade e mais que tudo e sobretudo o que faça desta desprotegida cidade a cabeça das províncias do norte pela elaboração das ideias e o coração dessas províncias pela iniciativa dos sentimentos generosos”.
Na sua longa vida, O Comércio de Guimarães conheceu momentos de glórias e também as agruras das crises. O certo é que conseguiu ser uma presença assídua nas bancas em três séculos da História de Guimarães. E seria em 1986 que, devido a uma atitude meritória de um punhado de vimaranenses de quatro costados, O Comércio de Guimarães deixava de ser pertença de uma família para conhecer uma nova e decisiva

etapa da sua vida. Tendo deixado de se publicar em Dezembro de 1985 por evidente inviabilidade económica, o centenário jornal foi salvo do apagamento total e definitivo pela Santiago - Sociedade de Cultura e Turismo, Lda., que lhe proporcionou os meios necessários à viabilização económica. Pouco tempo depois, este centenário vimaranense passou para a propriedade da Empresa Gráfica do Jornal O Comércio de Guimarães, Lda., integrando atualmente a GUIMAPRESS SA, designada por Grupo Santiago, no âmbito do desenvolvimento de um projeto de comunicação social vimaranense que inclui também o jornal Desportivo de Guimarães, a Rádio Santiago, o site Guimarães Digital e a revista Bigger Magazine.

ao LONGO DOS TEMPOS em CALDAS DAS TAIPAS
Carlos Marques

Não é possível apurar com exactidão a origem do fabrico da cutelaria em Caldas das Taipas.
Nas Inquirições Régias do ano de 1258, empreendidas no reinado de D. Afonso III, já é referida a entrada de ferro. Sousa Viterbo refere que, em 10 de junho de 1442, D. Afonso V passou uma carta de privilégio a João de Guimarães, ferreiro e fabricante de bestas de aço.
Alguns anos mais tarde, em 1483, Pêro Vicente foi nomeado por D. João II seu armeiro pessoal.
Nos registos da Colegiada de Guimarães, nos Contratos Notariais refere-se à existência de vários cutileiros entre os quais Gil Vasques, no ano de 1401, com oficina e cutelaria. Álvaro Anes estava estabelecido, em 1464.
D. João III concedeu, em 20 de julho de 1552, uma Carta de Privilégio a João Afonso e, no ano seguinte, a Gonçalo Afonso (Sousa Viterbo, 1896). Caldas das Taipas constituía, por isso, um significativo centro de produção no século XVI.
A promulgação do “Regimento de preços e Salários”, votado pelo município em 1552, é um importante marco de desenvolvimento da indústria da cutelaria (Fernandes & Oliveira, 2004).
Os Livros das vereações da Câmara de Guimarães indicam várias vezes a existência de cutileiros, principalmente a partir do início do século XVII, caso de Augusto Dias e de Pedro Lopes, que, no ano de 1606, foram eleitos juízes do ofício.
Existe uma Corporação, pelo menos, desde meados do século XVI, a ter em conta uma Carta de Juízes deste ofício datada de 1685 (Sousa, Hermínio, 1918).
Outros registos, como o de João Rebelo, em 04 de janeiro de 1664, de Domingos Castro e de Cristóvam Ferreira, em 06 de fevereiro de 1664 (Sousa, Hermínio, 1918).
Em 1775, surge Novo Regimento e mais completo (Sousa, Hermínio, 1918). Há referências à participação na Procissão do Corpus Christi, transportando o andar de São João Baptista. Estes Estatutos foram confirmados pelo Senado da Câmara Municipal, no ano de 1778.

Em 1778, os mestres cutileiros (existiam, então, 61 Mestres com Marca própria) já dispunham de Marcas para as Obras do seu Ofício tendo-as apresentado à Câmara para serem registadas.
A. L. Carvalho (1939) identifica 50 cutileiros e 11 bainheiros, cujas marcas estão reproduzidas no chão novo das TAIPAS.
Em 1783, a Junta de Administração das Fábricas do Reino concedeu Alvará a Isidoro José Ferreira para estabelecer uma fábrica de manufacturar toda a qualidade de charneiras e fivelas de ferro.
Segundo Costa (2001), a vila de Guimarães encontrava-se cheia de cutileiros e tecelões.
Antes ainda da implantação definitiva do Liberalismo, em 1834, houve necessidade de voltar a alterar os Estatutos dos Cutileiros, pois nem todos os mestres o respeitavam.
A evolução é interrompida em consequência das invasões Napoleónicas de 1807 a 1809.
Infelizmente, o mapa Geral Estatístico das Fábricas do Reino não faz nenhuma referência às fábricas de cutileiros (Acúrsio das Neves, 1814). E, em 1816, existe uma carta dirigida às Cortes explicando a decadência do sector.
Com a vitória definitiva do Liberalismo, em 1834, consistindo na liberalização das actividades económicas, a abolição do Regime Corporativo eliminou os entraves e os constrangimentos que impediam o livre desenvolvimento do sector económico e, particularmente, da actividade industrial. Em 1836, é fundada uma fábrica de cutelaria em Guimarães, uma unidade industrial moderna que pertencia a José Custódio Vieira, ocupando 20 operários (Costa. Hermínio 1918).
Nos Inquéritos Paroquiais de 1842 indica-se que a actividade se desenvolvia essencialmente nas freguesias rurais, destacando-se São Martinho de Sande, com 38 garfeiros e 9 lojas deste ofício, tendo sido inaugurado um monumento ao Garfeiro, no dia 29-06-2024.
Em 1852, o setor passa por uma crise assustadora, e esta crise não passa despercebida no relatório da Exposição Industrial de Guimarães do ano de 1884 (Meira e Sampaio, 1884).
A realização da Exposição Industrial, em 1884, em Guimarães, consistiu precisamente em apresentar as potencialidades e as carências do sector industrial do concelho de modo a provar a necessidade de se criar uma Escola Industrial que proporcionasse os conhecimentos técnicos indispensáveis ao seu desenvolvimento industrial. O Presidente da Câmara de Guimarães de então sublinhou “que a indústria não podia subsistir nos tempos modernos sem a instrução profissional”.

O responsável pela elaboração do relatório oficial da Exposição afirmou, "quanto noutras localidades a maior parte dos industriais pede a proibição da entrada dos produtos estrangeiros, e se queixa do peso dos tributos, aqui em geral queixam-se da falta de instrução que lhes é indispensável, e esperam ansiosamente a criação duma escola industrial que venha a derramar a luz no meio das trevas que os cercam”
Por decreto de 3 de dezembro de 1884, foi “criada uma Escola Industrial que tem por fim ministrar o ensino apropriado às indústrias predominantes naquela localidade, devendo este ensino ser eminentemente prático. A Escola Industrial de Guimarães compreenderá as seguintes disciplinas: Aritmética, Geometria Elementar, Contabilidade Industrial, Desenho Industrial e Química Industrial. Por novo decreto, a 5 de Dezembro de 1884, atribuiulhe a denominação de Escola Industrial de Francisco de Holanda.

010, Exposição no edifício da Junta de Freguesia de Caldas das Taipas “A Marca do Cutileiro.
Em 17 de Janeiro de 1890 a Associação Comercial e Industrial de Guimarães pede ao Governo a organização na Escola Industrial Francisco de Holanda duma oficina de cutelaria e classes similares, com mestre contratado na Alemanha, Bélgica ou França, desiderato que foi conseguido, em 1891, com a introdução do ensino de serralharia, cutelaria, fiação, tecidos e lavores femininos. Todos estes cursos têm uma duração de cerca de 100 anos, à exceção da cutelaria que perdura poucos anos.
A formação profissional da cutelaria é abandonada e deixam-na à sorte dos empresários fabricantes donde se destacam os das Caldas das Taipas, António da Silva Fertuzinhos (criada em 1908), Manuel Marques, o marca 11 (criada em 1911), António Faria da Silva, o marca 2 (criada em 1925) e a de J. F. Carvalho & Cª, Lda (criada em 1933).
Nos 25 anos seguintes, entre 1884 e 1916, os mestres trabalham por conta dos negociantes da cidade, ou, se trabalham por sua conta, têm quase a certeza de lhes vender a obra produzida. “Os industriais não

têm recursos capazes de empatar os produtos além duma semana. O comerciante é que domina o negócio e obriga o fabricante a pôr a marca do cliente” .
Caldas das Taipas é a capital nacional da cutelaria, em 29 de Julho de 2024, informação compilada a partir do livro “Guimarães: a tradição das cutelarias”, 2014, Carlos Marques, Isabel Fernandes, José Manuel Lopes Cordeiro, Manuel Martins, Manuela de Alcântara Santos, Paula Trigueiros e Teresa Soeiro.
Exposições ao longo dos tempos, que contaram com a Participação de Industriais de Cutelaria de Caldas das Taipas e de Guimarães:
1844, na Exposição dos Produtos da Indústria Nacional (Lisboa); José Joaquim de Sousa Guimarães e Manuel José da Silva Cerqueira.
1851, na Great Exhibition og the Works of Industry of all Nations (Londres): Manuel José da Silva Cerqueira e José Joaquim de Sousa Guimarães.
1857, na Exposição Industrial do Porto: Domingos José de Abreu, Domingos José Pereira, Joaquim Mendes da Silva (Cerqueira) Guimarães e Manuel José de Oliveira Doceiro.
1861, na Exposição Industrial do Porto: Domingos José de Abreu, Domingos José da Cunha, Joaquim Mendes da Silva (Cerqueira) Guimarães e José António Gonçalves Panão.
1862, na Exposição Universal (Londres): José Custódio Vieira.
1863, na Exposição Agrícola Distrital (Braga): Pedro Alves Guimarães, Domingos Silva Guimarães e Cesário Augusto Pinto.
1865, na Exposição Internacional do Porto: Joaquim Mendes da Silva (Cerqueira) Guimarães, José Custódio Vieira, João Baptista Sampaio.
1867, na Exposição Universal (Porto): José Custódio Vieira.
1876, na Exposição Internacional (Filadélfia, EUA): Augusto Mendes da Cunha, Joaquim Mendes da Silva (Cerqueira) Guimarães, Manuel Carvalho, João Carvalho Guimarães e Augusto Frutuoso.
1879, na Exposição Portuguesa (Rio de Janeiro): Augusto Mendes da Cunha.
1884, na Exposição Industrial Concelhia (Guimarães): Augusto Mendes da Cunha, António Francisco de Oliveira


Guimarães Cunha & Cª Lda, José Francisco da Silva, João Manuel de Melo, Domingos Jose Ferreira da Silva Guimarães, Manuel José da Silva (o 35), João Carvalho Guimarães e Joaquim de Matos.
1884, na 3ª Exposição Agrícola de Lisboa: Augusto Mendes da Cunha. 1888, na Exposição Industrial Portuguesa (Lisboa): José Augusto Ferreira da Cunha.
1891, na Exposição Industrial Portuguesa (Porto): José Augusto Ferreira da Cunha.
1893, na Exposição Industrial Portuguesa: Manuel Pinheiro da Costa & Filho.
1897, na Exposição Industrial Portuguesa (Porto): Francisco de Oliveira e J. R. de Freitas.
1910, na Exposição Agrícola e Industrial (Guimarães): Costa Lerdeira & Cª e José Francisco da Silva (marca 5).
1922, na Exposição Internacional do Rio de Janeiro: Joaquim Ribeiro Moura & Filhos, Lda (Marca 35) e Domingos Francisco da Silva (Marca 5).
1923, na Exposição Industrial e Agrícola Concelhia (Guimarães): António da Silva Fertuzinhos, Joaquim Ferreira da Cunha, Joaquim Ribeiro de Moura, José Francisco da Silva & Filhos, António Machado Guimarães, José de Magalhães, Manuel de Freitas & Filhos, Domingos José Nunes, Sebastião Mendes, José Fernandes Guimarães e Alberto Machado.
1929, na Exposição Ibero-Americana (Sevilha): Joaquim Ribeiro Moura & Filhos, Lda (Marca 35).
1932, na Grande Exposição Industrial (Lisboa): Domingos Francisco da Silva (Marca 5).
1934, na 1ª Exposição Colonial Portuguesa (Porto): Domingos Francisco da Silva (Marca 5).
1953, na Exposição Industrial e Agrícola (Guimarães): Domingos Francisco da Silva (Silva 5), Tomaz Fernandes (Marca 85), Joaquim Ribeiro Moura & Cª, Lda (Marca 35), António da Silva O painel com toda a gama de cutelarias da firma J. F. Carvalho de Sande/Caldas das Taipas no stand da feira que decorreu no Campo de S. Mamede da cidade de Guimarães.


Fertuzinhos, Isaías Fertuzinhos, J. F. Carvalho & Cª, Lda; José Joaquim Pereira (Marca 26); J. M. Teixeira (Marca 20); Augusto M. S. Machado; António da Costa; Manuel Fernandes; José Fernandes de Melo (Marca 3); Sebastião Mendes; Boaventura de Faria. 1981, na Iª Exposição de Cutelarias de Caldas das Taipas (edifício da Junta de Freguesia): Baptista & Irmãos, Lda (BATIL); Belo Inox, Lda; Cutal-Cutelarias Portuguesas, Lda; Cutipol-Cutelarias Portuguesas, Lda; Macêdo & Marques, Lda; Manuel Marques, Herdeiros, Lda (HERDMAR); Martins & Castro, Lda (MARCAL); Marques & Irmãos, Lda (MARQUIL) Marques & Marques, Lda; Miguel Marques & Filhos, Lda e Serafim da Silva Fertuzinhos.
2012, em Guimarães: a tradição das cutelarias: António Magalhães Gonçalves (Cutelarias 2000); Belo Inox, Lda; Serafim Fertuzinhos, SA (CARPA/BATIL); Cutal-Cutelarias Artísticas, Lda; Cutelarias Cristema, Lda; Cutipol-Cutelarias Portuguesas, SA; MANUEL MARQUES, Herdeiros, SA (HERDMAR): Iber-Cutelarias, Lda; Miguel Indústria Portuguesa, Lda; João da Silva Mota (MOTINOX) e Manuel Machado & Cª, Lda (MAFIL).

A linha de polimento da BATIL, uma das 153 fotografias da exposição de Caldas das Taipas, em 1981
Exposições da coleção de cutelaria de Carlos Marques, nos anos de: 2003, nas Caldas das Taipas, edifício da Junta de Freguesia, a exposição “CALDAS DAS Taipas - Capital da Cutelaria no livro e no talher”.
2005, na Galeria do Intermarché de Caldas das Taipas, a colecção “A marca do cutileiro”.
2008, no Parque de Turismo de Caldas das Taipas organizado pelo Agrupamento de Escolas das Taipas, sob o lema “Minha terra, minha gente, espelho do mundo”.
2012, nas Caldas das Taipas, com o carro alegórico da cutelaria integrado no Cortejo Etnográfico da vila, os 100 anos da fábrica HERDMAR.
2012, nas Caldas das Taipas com os presépios de rua pelo Agrupamento de Escolas das Taipas.
2014, nas Caldas das Taipas, no Salão Nobre dos Bombeiros, a colecção “a tradição das cutelarias” numa exposição colectiva.

Na sala do Senado da Assembleia da República, a receber o prémio de melhor catálogo do ano de 2014 da exposição Guimarães: a tradição das cutelarias.




2015, nas Caldas das Taipas, com o carro alegórico da cutelaria integrado no Cortejo Etnográfico da vila, com os alunos da E. B. 2/3 de Caldas das Tapas do Curso Vocacional a cutelaria.
2016: Exposição “A Marca do cutileiro”, na Escola E. B. 2.3 de Caldas das Taipas.
2022: Cedência, a título permanente, duma colecção de facas para a Exposição itinerante das Capitais Mundiais da Cutelaria em Albacete/Espanha.
2023, na Escola E. B. 2.3 de Caldas das Taipas a colecção “Artefactos da Cutelaria”.
2024: Cedência, a título permanente, duma colecção de facas para a Exposição itinerante das Capitais Mundiais da Cutelaria em Tandil/Argentina.
As águas termais das Taipas na Exposição Industrial de Guimarães (1884)
António José de Oliveira34


Após a Romanização, as nascentes termais de Caldas das Taipas só foram (re)descobertas no século XVIII por Cristóvão dos Reis, frade carmelita, administrador da botica do seu convento, em Braga, que chamou a atenção para as virtudes terapêuticas das águas mineromedicinais. Este religioso publicou, em 1779, uma obra onde exalta as virtudes curativas e a aplicação terapêutica destas águas. Até ao início do século seguinte, os banhos termais eram tomados em poços cavados na terra e cobertos com ramos de carvalho. Apenas se construíram algumas barracas de madeira, mais para evitar os atentados ao pudor do que propriamente para comodidade dos aquistas.
Em face das precárias condições de utilização das nascentes termais, em 1818, a Câmara Municipal de Guimarães resolveu expropriar a área situada no Campo do Tapadinho para aí construir um pequeno balneário, no qual era canalizada a água captada em cinco nascentes diferentes. Entre 1844 e 1867, as obras em curso puseram a descoberto a quase totalidade das ruínas dos balneários romanos, cujo ladrilhado de grandes tijolos foi em parte reutilizado na edificação das novas infraestruturas termais. Durante a primeira metade do século XIX, realizaram-se diversos estudos corográficos da localidade e procederam-se a análises químicas das captações das águas termais. Em 1874, no mesmo local, iniciou-se a construção de um novo edifício, contíguo ao anterior, em forma dodecagonal, inaugurado a 11 de julho de 1875. Em 1908, após a inauguração do moderno edifício termal (“Banhos Novos”), por iniciativa do taipense José Antunes Machado, concessionário das nascentes termais, estes dois edifícios adjacentes seriam então denominados de “Banhos Velhos”.
A crescente importância da exploração das águas termais de Caldas das Taipas, pela Câmara Municipal de Guimarães, está patente pelo facto de terem sido expostas em várias exposições industriais e agrícolas
34 Docente do Quadro do Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda. Tesoureiro da Direção da Cooperativa Taipas Turitermas. Doutorado em História de Arte em Portugal.

durante os finais do século XIX e durante a centúria seguinte.
Há precisamente 140 anos, as águas termais de Caldas das Taipas foram expostas na Exposição Industrial de Guimarães de 1884. As águas termais das Caldas das Taipas foram exibidas juntamente com as águas minerais da Companhia dos Banhos de Vizela, na 2.ª sala, do 1.º andar do Palácio de Vila Flor. Esta importante Exposição

Industrial longamente noticiada na imprensa local, regional e nacional da época, foi inaugurada a 15 de junho, ocupando as dependências do Palácio de Vila Flor, cedido para o efeito pelo seu proprietário António Maria Soares Veloso. Esta Exposição inaugurada dois meses após a viagem inaugural do comboio, que ligou Guimarães à rede ferroviária portuguesa, fecharia as portas ao público a 26 de julho. No Relatório desta Exposição podemos constatar que, no ano anterior (1883), a autarquia vimaranense obteve uma receita de 1493$560 réis proveniente de 25830 banhos dos dois balneários das Caldas das Taipas, atualmente denominados de “Banhos Velhos”35 .
As águas termais desta povoação estiveram presentes noutras Exposições nacionais. Citamos, apenas a título de exemplo, a presença destas águas, em 1903, na

35 (Relatório da Exposição Industrial de Guimarães de 1884, Porto, Tip. de António José da Silva Teixeira, 1884, p. 74).

Exposição de Produtos Agrícolas, realizada no Palácio de Cristal, da cidade do Porto. Esta exposição de produtos agrícolas e águas minerais foi inaugurada a 17 de agosto de 1903, pelo Rei D. Carlos. Este certame ocupou as três naves e as galerias do antigo palácio de cristal. Esta exposição, largamente referenciada e publicitada pela imprensa nacional da época, foi organizada por uma comissão presidida pelo Visconde de Guilhomil, igualmente presidente da direção do Palácio de Cristal. Nessa altura, com o intuito de a autarquia vimaranense publicitar as águas termais de Caldas das Taipas e o seu edifício termal (“Banhos Velhos”), em reunião de Câmara, é autorizado o dispêndio de 46$500 réis, para a impressão de impressos publicitários referentes às águas do estabelecimento termal, que foram distribuídos aos visitantes da Exposição Agrícola do Porto.
Em suma, através da participação ativa das águas minerais das Taipas, na Exposição Industrial de Guimarães de 1884 e na Exposição Agrícola do Porto, de 1903, e com a distribuição de impressos publicitários das mesmas, a Câmara Municipal de Guimarães proporcionava uma maior visibilidade e competitividade da indústria termal desta povoação no panorama regional e nacional.



Uma igreja incompleta num Toural em mudança
Helena Pinto (CITCEM) e Maria José Queirós Meireles (Museu de Alberto Sampaio)
O ano de 1884 foi de mudança, de renovação profunda em Guimarães, por diversas razões, algumas delas objeto de escrita nestes Cadernos 6. No presente texto, que tem como enfoque a Basílica de S. Pedro, refletimos sobre o antes e o pós-1884 da área onde aquela igreja foi construída e que, ainda hoje (Figura 1), marca a paisagem urbana - o Toural.

A importância desta praça é destacada desde o período medieval, pois, junto dela, encontrava-se a Porta da Vila, a mais concorrida porta de entrada em Guimarães e de chegada da estrada que vinha do Porto. Segundo Alberto Vieira Braga (1992: 63) era ali que se efetuava a feira dos bois que, mais tarde, passou para o Campo da Feira. Foi embelezada, desde 1583, com um chafariz de várias bicas, da autoria de Gonçalo Lopes, evidência da importância de uma fonte de água para o local (abastecido por encanamento desde uma represa do terreiro de S. Paio). Com este arranjo, a praça do Toural adquiriu maior protagonismo no espaço extramuros. Já em inícios do século XVIII, era um largo onde se faziam vários festejos e, segundo Francisco Craesbeeck (cit. por Meireles, 2021: 119), era um local agradável de que a nobreza usufruía nas tardes de verão.
No lado nascente permanecia o pano da muralha, até que, por interferência central em decisões locais, foi decidida a construção de um conjunto edificado, que para não se diminuir a área da praça, se colou, a partir de 1793, à estrutura defensiva de outrora. O “risco” das casas teria vindo de fora, tendo sido delineado,

em Lisboa, sob influência pombalina (Oliveira, 1986). Em 1795, as casas estariam concluídas. Em frente, mercadejava-se, sobretudo ao sábado, quando também as doceiras e chouriceiras podiam vender, usando a beira do tanque do Toural que lhes servia de mesa (Faria, 1944, cit. por Meireles, 2021: 120).
Várias casas nobres, sobretudo do lado poente, marcavam o alinhamento do Toural. Entre elas, destacava-se o palacete do Morgado do Toural (António Vaz Vieira da Silva Melo Alvim e Nápoles) que, tendo este falecido em 1852, foi arrematado por execução judicial do Banco de Guimarães, em 1878 (Faria, 1944, cit. por Meireles, 2021: 121). Até ao final da década de 1860 foram dados passos para o sucessivo melhoramento da área, como se verificou pelo “quebramento das Lajes do Toural”, procurando-se regularizar e arborizar o Toural, usando como modelo o Largo da Batalha, no Porto, e propondo-se, para isso, a mudança do chafariz para o centro do largo e do cruzeiro, situado no lado norte, para um local mais adequado (Oliveira, 1986: 30). Entretanto, a Comissão de Melhoramentos, então criada, propôs a desmontagem do chafariz do Toural e a demolição da igreja de S. Sebastião (em sessão de 13 de julho de 1869), enquanto a Câmara, por sua vez, deliberava que se abrisse subscrição para se mandar fazer seis lampiões a gás para o Toural, outros seis para o Terreiro de S. Francisco e três para o Terreiro da Misericórdia (Faria, 1944, cit. Meireles, 2021: 122). Na sequência de um grande incêndio que destruíra várias casas na parte norte do largo, novas mudanças surgiriam. Em agosto de 1874, a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário da igreja de S. Domingos cedia à Câmara o seu cruzeiro (também conhecido como cruzeiro do fiado) colocado no Campo do Toural em meados do século XVII.
No catálogo do museu da Sociedade Martins Sarmento (Cardozo, 1985), surge a referência a uma coluna da qual fariam parte duas peças colocadas em locais diferentes (Figuras 2 e 3):
“Formoso capitel coríntio e parte do fuste (este último junto ao muro de vedação do jardim do Museu) que pertenceram à coluna em que assentava um cruzeiro, no antigo local do Fiado (Mercado onde se vendiam tecidos e meadas de fio de linho), então situado na parte sul [sic]36 do Largo do Toural (hoje praça D. Afonso Henriques), também conhecido pelo cruzeiro da S.ª do Rosário. Foi apeado em 1874.
Sob o mesmo número do Catálogo [159] inclui-se um cilindro de pedra, de proveniência desconhecida, com 60 cm de diâmetro e 75 de altura, que serve de base ao capitel e ostenta em direções diametralmente opostas, os seguintes signos, de significado obscuro, mas certamente pertencentes à simbologia cristã: [seguem-se as ilustrações dos símbolos]” (Cardozo, 1985: 193).
36 A localização mais provável seria na parte norte do largo do Toural, pois o cruzeiro era pertença da Irmandade de S. Domingos.


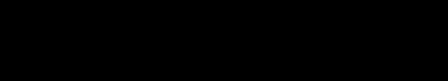


Provavelmente, o suporte do cruzeiro foi partido e dele restam apenas duas peças. O capitel com características de estilo compósito, em regular estado de conservação, faria eventualmente parte do conjunto, assim como o fragmento de fuste com motivos geométricos bastante relevados e caneluras, na parte superior, que está partido e colocado sobre o chão, junto à vedação. Esta peça é muito semelhante às colunas laterais do portal setecentista da igreja da Misericórdia, de Guimarães.
Ainda na área do Toural, junto da antiga igreja de S. Sebastião, havia um outro cruzeiro de granito, conforme referido no catálogo do museu da Sociedade Martins Sarmento (Cardozo, 1985), que ali o conserva (Figura 4),
“proveniente do adro da Igreja paroquial de S. Sebastião, demolida em 1893, que existiu em Guimarães, junto do Largo do Toural, passando a paróquia de S. Sebastião para a Igreja das Dominicas. Encostada à cruz está a Virgem coroada, com o Menino ao colo e, por baixo do capitel, na frente e retaguarda, um escudete com três vieiras em disposição triangular. Na retaguarda da cruz parece ter existido uma imagem de Cristo crucificado, que depois foi picada. Mede 4,32 [metros] de altura”. (Cardozo, 1985: 166).


No mesmo ano de 1874, a Câmara tomava medidas para a continuação dos melhoramentos necessários ao alinhamento das casas do lado sul com a fachada do lado nascente do Terreiro de S. Francisco. Em 1878, seria demolido o chafariz, depois arrumado na praça do mercado (Oliveira, 1986: 31) até ser colocado no

Largo do Carmo, em 1890, onde se manteve até 2012, por altura da Capital Europeia da Cultura, sendo devolvido ao local original.
O Toural tornava-se o Passeio Público da segunda metade do século XIX. As árvores, que tinham sido plantadas em 1859, foram abatidas por volta de 1874, para dar lugar ao jardim, que seria fechado com portões de ferro três anos depois. Nesse ano de 1877, a imprensa vimaranense noticiava o “arvorecido”, ou seja, o corte de uma árvore no Toural. O jardim foi novamente arborizado, em 1878, e nele foram plantadas, por um jardineiro portuense, um conjunto de várias árvores vindas do Porto. Entretanto, faziam-se os trabalhos para conclusão de um lago, disposição de assentos e de candeeiros para iluminação, tendo o jardim sido aberto ao público (usando fato e gravata), ainda sem o coreto. Este, chamado Pavilhão Acústico do Toural, começaria a ser montado em março de 1880 (Faria, 1944, cit. Meireles, 2021: 126).
Ali ao lado, a Igreja de S. Pedro ia ganhando forma. Já em meados do século XVIII, existia, no Toural, a capela de S. Pedro, pequena e simples, tendo a Irmandade de S. Pedro sido autorizada, em 1782, a ampliar e edificar a sua igreja. Só em 1881, após aprovação do risco pela Associação dos Arquitetos de Lisboa, as obras avançaram, começando-se por demolir as frágeis casas da Irmandade que se encontravam em frente e a torre provisória, de madeira, para se construir a fachada do edifício em pedra. Em agosto de 1882, fechavam-se os três arcos de entrada e a tiara pontifícia era colocada sobre o brasão do frontão, em 1883. Em abril de 1884 – há 140 anos – colocava-se a cruz de pedra com três hastes no cimo do frontispício, concluindo a obra de pedra da fachada. No entanto, só um ano depois era demolido o barracão em frente da basílica, que estorvava o trânsito e incomodava os moradores, sendo vivamente aplaudido pela imprensa37 . No fim do Terreiro Toural, existia na Muralha o Postigo de S. Paio e, quase a seguir, a Igreja de S. Sebastião, com o seu adro e cemitério. Para trás, estendia-se o amplo Terreiro de S. Francisco. No entanto, a estreita largura da rua junto à igreja de S. Sebastião começou a estrangular e a limitar a fluidez desse espaço. Em 1860, tinha-se arrematado o recuo de um metro em linha reta do adro da igreja pelo lado sul (Oliveira, 1986). O engenheiro Manuel de Almeida Ribeiro, no seu Plano de Melhoramentos, propusera que se abrisse um espaço amplo e largo, através de diversas demolições, incluindo a igreja de S. Sebastião. O cruzeiro que se encontrava em frente da igreja seria removido e levantado, de novo, junto à torre. Em dezembro de 1874, a Câmara deliberava expropriar e demolir a alpendrada da Alfândega do peixe e os prédios necessários para
37 In O Comércio de Guimarães. N.º 86 (1885 abr.23), p. 2.

o alinhamento das casas do lado sul do campo do Toural, mas só em outubro de 1878, começavam os trabalhos do projeto da Câmara para o Campo de S. Francisco: construir um parque ou uma alameda, semelhante à da Praça Nova do Porto (Meireles, 2021 167.).
Em abril de 1880, a Câmara pediu ao Governo que fosse concedida à Junta de Paróquia de S. Sebastião, a igreja do Convento de Santa Rosa de Lima, com as suas peças de coro, sacristia e casa residencial do capelão, para substituir, como paroquial, a igreja de S. Sebastião, que se pretendia demolir. Por sua vez, em março de 1882, divulgou-se um comunicado no jornal Religião e Pátria, defendendo a transferência da igreja de S. Sebastião para a igreja de S. Pedro, procurando-se terminar a obra mais rapidamente e com mais apoio (Meireles, 2021: 170). Finalmente, no dia 24 de junho de 1884, na igreja de S. Sebastião, em reunião da Junta de Paróquia com vários moradores da freguesia, resolveu-se nomear uma comissão para estudar os meios para se construir, noutro lugar, uma nova igreja, se o governo não concedesse a das Domínicas ou de Santa Rosa de Lima.
Entretanto, decidiu-se erigir um monumento a D. Afonso Henriques, procurando-se “aformosear” o Largo de S. Francisco. A 19 de setembro de 1887, colocou-se a estátua de D. Afonso Henriques, fundida na oficina de Massarelos, no pedestal de mármore, tendo sido inaugurada mais tarde, a 20 de outubro desse ano, com a presença de D. Luís e da família real, acompanhados pelo Conde de Margaride (Meireles, 2021: 171). A guarda de honra era formada pelos Bombeiros Voluntários de Guimarães, usando fardas de gala e sendo guiados pela bandeira da sua associação. Nesse mês, também a Junta de Paróquia de S. Sebastião participava à Câmara a decisão de mudança definitiva da igreja matriz para qualquer outra existente dentro da sua área e pedia à Câmara a concessão de um subsídio à freguesia. Decidiu-se, ainda, que a feira semanal que se fazia no Campo de S. Francisco fosse mudada para outro local e que, embora, interinamente, pudesse permanecer no Largo de S. Sebastião. O Campo de S. Francisco passava a denominar-se Praça de D. Afonso Henriques e o Campo de D. Afonso Henriques, junto do Castelo, tomou a designação de Campo do Salvador e, mais tarde, Campo de S. Mamede.
Depois de uma primeira decisão local, em finais de dezembro de 1887, de que a paróquia iria para a igreja de São Pedro, em junho de 1888, o Ministro da Fazenda concedia à Junta de Paróquia de S. Sebastião o extinto Convento das Domínicas. Mas seria necessário esperar por 1892, para que chegasse a licença do Arcebispo de Braga, concedendo a transferência da sede paroquial de S. Sebastião para a igreja de Santa Rosa de Lima ou das Domínicas, efetuando-se, no dia 25 de setembro de 1892, a mudança da sede de

paróquia. Em 26 de novembro de 1896, concluía-se a demolição da igreja e adro de S. Sebastião, ficando o local terraplanado (Faria, 1944, cit. por Meireles, 2021: 176).
Este melhoramento acompanhava, agora, o que se vinha fazendo, há mais de dez anos, no Jardim do Toural e área envolvente. Em outubro de 1886, tinha sido inaugurado, no lado nascente do Toural, o Grande Hotel de Guimarães, cujo proprietário e fundador foi Joaquim José Pereira (Meireles, 2021: 128). Também a iluminação do local era objeto de atenção e, em 1907, após o sucesso das iluminações para as Festas Gualterianas, a Câmara aprovava o projeto e orçamento para colocação de uma nova instalação elétrica no Passeio Público.
Entretanto, com a implantação da República, também o Toural iria conhecer mudanças. Em sessão da Câmara de 2 de novembro de 1910, era aprovada a remoção das grades que circundavam o Jardim do Toural. Começavam, simultaneamente, a preparar-se as comemorações do Centenário de D. Afonso Henriques e decidiu-se mudar a estátua da autoria de Soares dos Reis, que se encontrava no Largo de D. Afonso Henriques, para o centro do Toural. A 3 de julho de 1911, levantavam-se as grades de ferro que vedavam o jardim do Toural, passando para o murete de pedra do mercado das Taipas. A 7 de julho de 1911, seria transladada para o Toural a estátua de D. Afonso Henriques, que se pretendia que fosse descerrada por ocasião das festas da cidade, por um ministro. Por sua vez, o local que antes ocupara era ajardinado e decorado com o coreto que para ali se mudou.
As Festas da Cidade, realizadas a 5, 6 e 7 de agosto de 1911, incluíram a Comemoração Solene do VIII Centenário do nascimento de D. Afonso Henriques. Esta celebração, em 1911, quando já se encontrava plenamente instalada a República, teve “alguma incomodidade no facto de se comemorar o nascimento de um rei” (Rodrigues, 1996: 3), o que levou a que se realçasse a faceta de Fundador de Portugal e não da monarquia. Em sessão de 9 de agosto de 1911, deliberou-se substituir o nome de Praça do Fundador de Portugal pelo de Praça do Libertador de Portugal (Meireles, 2021: 241).
Ali próximo, as imediações da igreja da S. Paio (atualmente, Largo Condessa do Juncal) requeriam atenção pelo estado de degradação geral. Depois de vários requerimentos, a 16 de março de 1911, foi publicado um decreto autorizando a Câmara Municipal a mandar proceder à demolição do edifício do antigo Recolhimento do Anjo, dando-se início à sua destruição, em 20 de abril de 1911. Também o Albergue de Nossa Senhora do Serviço, que já tinha mudado as albergadas para o extinto convento de Santa Rosa de Lima, começou a ser demolido, em 19 de setembro de 1911. Em maio de 1912, era a vez do Albergue localizado no

Terreiro das Beatas do Anjo, ao lado da igreja. Por fim, a 20 de abril de 1912, principiava, pela capela-mor, a demolição da igreja de S. Paio (Faria, 1944, cit. por Meireles, 2021: 235), que só se concretizaria em 1914, com a instalação da paróquia de S. Paio na igreja de S. Domingos.
Já em 1915, abria-se a subscrição para aquisição do relógio da torre da igreja de S. Pedro, que só em 1938 seria finalmente colocado, mediante um protocolo com a Câmara. Permanecia incompleta, apenas com uma torre, quando fora projetada para ter duas. Em 1890, apesar de um novo contrato celebrado com o pedreiro que tinha já edificado a parte inicial da torre e que se “obrigava à conclusão da obra da torre do lado sul e da balaustrada da frente”, a obra não ficou concluída, o que logrou à igreja o título de “basílica imperfeita” (Costa e Silva, 2016: 68), o que se justifica, como em 1904, sobretudo pela falta de recursos:
“A casa pertencente à nossa irmandade destinada a demolir-se para edificação da segunda torre, como está no plano geral das obras, não pode ter efeitos antes de 10 anos pelo menos, atenta a falta de recursos e a necessidade mais urgente de outras obras no interior da igreja: considerando que para se poder alugar com mais vantagem é conveniente garantir ao arrendatário uma duração mais larga. O juiz propôs que se pusesse a renda em arrematação por 5 anos, bem como algumas dependências da igreja de que podem dispor se”.38
Em reunião de outubro de 1925, perante a impossibilidade de construção da segunda torre conforme o projeto da fachada principal da basílica, referia-se a necessidade de “continuar a arrendar a casa em cujo terreno a dita torre tem de ser levantada” (Costa e Silva, 2016: 68). E assim permaneceu a igreja, até aos nossos dias, apenas com uma torre.
Salientamos, em remate, uma memória, quer pelo seu calendário (há, precisamente, 100 anos) quer pela sua persistência: em abril de 1924, a Câmara, atendendo ao pedido que lhe havia sido feito pelos moradores do Toural, mandou derrubar as árvores que circundavam aquela praça, palmeiras de grandes dimensões, que se considerava desfearem o local (Meireles, 2021: 242).
Guimarães, como outros núcleos urbanos, conheceu, ao longo do seu percurso secular, mutações, alargamentos e retrações, fruto das condições económicas e políticas de cada época: no século XV, iniciou-se uma ampla reforma, desde a sistematização dos forais à transformação da vida urbana, na qual dominavam as preocupações sanitárias (limpeza de ruas, praças, canos, muralhas), estéticas e funcionais (calcetamento
38 Excerto de ata, ano económico de 1903-1904, fl. 7v (Arquivo da Irmandade), cit. por Costa e Silva (2016: 69).

e realinhamento de ruas), que se estendeu até à época pombalina. Mas foi sobretudo a partir de finais do século XVIII, que a malha urbana começou a conhecer grandes transformações devido ao forte crescimento demográfico, sobretudo na segunda metade do século XIX, quando surgiram grandes transformações urbanas que procuram adaptar a cidade aos novos valores económicos (Pinto, 2016: 54), reconfigurando o tecido urbano, mas mantendo o núcleo preexistente, caracterizado, até aos nossos dias, por traços medievais.
BRAGA, Alberto Vieira (1992). Administração seiscentista do município vimaranense. 2.ª ed. Guimarães: Câmara Municipal.
CARDOZO, Mário (1985). Catálogo do Museu de Martins Sarmento. Secção de Epigrafia Latina e de Escultura Antiga (3.ª ed. ilustrada). Guimarães: Edição subsidiada pela Fundação Gulbenkian.
COSTA, Olga; SILVA, Hilário (1916). Uma viagem no tempo: a história de uma Irmandade. Guimarães: Irmandade do Príncipe dos Apóstolos São Pedro.
MEIRELES, M.ª José Queirós (2021). O Património Urbano de Guimarães nos séculos XIX e XX. Guimarães: Casa da Memória, Muralha-Associação de Guimarães para a defesa do património.
OLIVEIRA, Manuel Alves de (1986). Guimarães numa resenha urbanística do século XIX. Guimarães [s.n.].
PINTO, Helena (2016). Educação histórica e patrimonial: conceções de alunos e professores sobre o passado em espaços do presente. Porto: CITCEM. Disponível em https://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/17511.pdf
RODRIGUES, Ana Maria (1996). Em busca de D. Afonso Henriques através de oito séculos de historiografia portuguesa. Segundo Congresso Histórico de Guimarães: atas do Congresso. Vol. 3. Guimarães: Câmara Municipal, Universidade do Minho.
A estátua de Afonso Henriques da autoria de Soares dos Reis



Ao longo dos tempos, a imagem de D. Afonso Henriques tem despertado grande curiosidade e controvérsia, entre os portugueses. Para isso, muito tem contribuído o facto de não haver uma estátua coeva do nosso primeiro rei. A exceção é a estátua a meio corpo de D. Afonso Henriques que se encontrava originalmente na Ermida de São Miguel, da Alcáçova de Santarém (atualmente no Museu Arqueológico do Carmo, em Lisboa). Esta estátua é usualmente datada como sendo do século XII (apesar de alguns autores a datarem como sendo do século XIII).
Pode-se, assim, dizer que não existe uma imagem única da figura de D. Afonso
Henriques, mas antes várias imagens, criadas consoante o artista que as concebia/imaginava ou a época em que o mesmo vivia.
Destas criações, destaca-se claramente a estátua da autoria do escultor

Soares dos Reis, que se encontra em Guimarães, exposta na entrada do Monte Latito, Colina Sagrada, ou parque da Colina do Castelo, como também é por vezes designada, a colina onde se situam o Castelo, a Igreja de S. Miguel e o Paço dos Duques. Tal como afirma Amaro das Neves, no catálogo da exposição “Os Rostos de Afonso Henriques”, organizada pela Sociedade Martins Sarmento, em 2009, «o rosto de Dom Afonso Henriques passou a ser, desde finais do século XIX, o retrato que dele fez o escultor Soares dos Reis”.
A iniciativa da conceção desta estátua partiu de um cidadão vimaranense, João Alves Pereira Guimarães, Retirada da estátua de D. Afonso Henriques do Largo do Toural, em 1940. In Memórias de Araduca (https://araduca.blogspot.com)

residente no Rio de Janeiro. Numa carta enviada à Camara Municipal de Guimarães, a 17 de julho de 1882, João Alves Pereira Guimarães afirmava: “Guimarães, o berço da Monarquia Portuguesa, deve divida sagrada de gratidão, de reconhecimento e patriotismo ao primeiro Rei e fundador da Monarquia Lusitana, D. Afonso Henriques”.
A Câmara aceitou a proposta e resolveu nomear “uma Comissão, verdadeiramente inspirada de patriotismo para, sob a influência e direção da mesma Câmara, se aplicar ativa e zelosamente a realizar os meios e preparar os trabalhos para execução do dito monumento”, e criar comissões parciais pelo reino, África e Brasil. “Só do Brasil pode obter-se a importância em donativos para a compra do Monumento em bronze fundido”, garantia dada por João Alves Pereira Guimarães.
Em maio de 1884, tendo reunido essa Comissão a quantia de 6.000$000 réis, convidou o mais célebre escultor do país, António Soares dos Reis, a criar um monumento digno do primeiro Rei de Portugal.

Estátua de D. Afonso Henriques, de António Soares dos Reis, junto do Paço dos Duques de Bragança, In Passa Portugal (https://www.passaportugal.pt)
Em resposta, Soares dos Reis disse que “com tão limitada soma não pode artista algum traçar afoitamente um projeto que não só faça honra à cidade em que o monumento vai erguer-se, como não desilustre os nomes dos artistas que o executaram”. Verificada a unanimidade de todos os pareceres, foi decidido efetuar o monumento em bronze, no valor de 7.000§000 réis, sendo assinado o contrato entre a Câmara Municipal de Guimarães e o escultor.
No dia 20 de outubro de 1887, a estátua de D. Afonso Henriques é inaugurada no Largo de S. Francisco, com a presença da Família Real: “pelas 4 horas da tarde a Família Real e demais autoridades tomaram lugar

na tribuna do Largo de S. Francisco, para assistirem ao ato solene da inauguração da estátua, que foi descerrada pelo Rei D. Luís, a que se seguiu uma delirante aclamação de milhares de vozes, tendo sido calculada em mais de 15.000 pessoas a multidão ali presente”.

A estátua na antiga Praça D. Afonso Henriques, hoje uma parte da Alameda de São Dâmaso, in Memórias de Araduca (https://araduca.blogspot.com)
Como afirmou o Rei D. Luís, no seu discurso, “Aquela estátua significa que o povo português paga uma dívida sagrada” ao primeiro Rei.
Em 1911, por altura do VIII centenário do nascimento de D. Afonso Henriques, que naquela época se considerava ser em 1111, a estátua foi deslocada para o Largo do Toural, de onde foi retirada, em 1940, e levada para as proximidades do Paço dos Duques de Bragança, local onde hoje permanece.
O molde de gesso desta estátua, que se encontra no Museu Soares dos Reis, na cidade do Porto, serviu de modelo para, pelo menos, duas cópias: uma, que se encontra no Castelo de São Jorge, em Lisboa, oferecida pela cidade do Porto, em 1947, no âmbito das comemorações do oitavo centenário da conquista de Lisboa; a outra, que se encontra em Santarém, no Jardim da Porta do Sol, inaugurada em 1999.
Hoje, a escultura de Soares dos Reis simboliza mais do que a homenagem a D. Afonso Henriques, sendo reconhecida por muitos como a representação icónica do nosso primeiro rei.

Monumento a Pio IX na Penha. A Estátua
Monsenhor José Maria Lima de Carvalho
A estátua de Pio IX, erguida no ponto mais alto da montanha de Santa Catarina, Penha, é certamente uma obra humana, mas que, por diversas circunstâncias, contextualiza os encantos e as motivações que fizeram daquele sítio uma atração irresistível.
A vocação da Penha, como ponto de encontro muito especial, teve o seu começo nos primeiros anos do século XVIII, com a chegada do ermitão Guilherme Marino que, peregrinando desde a Itália, veio encontrar ali as condições que o seu espírito procurava para a oração e contemplação divina. A oferta da Natureza era realmente pródiga para satisfazer os seus anseios. Fez de uma cavidade, abrigada por rochedos, uma gruta-ermida, onde viria a colocar uma imagem da Virgem Maria em madeira com o Menino ao colo, que adquirira em Braga, e dedicada a Nossa Senhora da Penha. Por volta de 1730, chegou um grupo de carmelitas descalços e, naturalmente, com eles a devoção a Nossa Senhora do Carmo.

A sua ação veio ampliar o interesse despertado pela presença do ermitão em fazer da Penha um lugar privilegiado de culto mariano. E é assim que se gera um entusiasmo popular que, com passos bem decididos, vai crescendo até à constituição de sucessivas comissões de melhoramentos e à caraterização religiosa da bela estância da Penha. Em 1872, foi ereta a Irmandade de Nossa Senhora do Carmo da Penha. Nesta altura, já era bem sentida a onda de fervor mariano, provocada pela definição dogmática da Imaculada Conceição pelo papa Pio IX, em 8 de dezembro de 1854, e as aparições da Virgem Maria, a partir de 11 de fevereiro de 1858, em

Lourdes, França. Assim, como acontecera, em Braga, com a homenagem à Imaculada Conceição, através da colocação de um monumento e santuário no monte Sameiro, os vimaranenses entenderam que a gruta natural existente no alto da Penha, muito semelhante àquela donde a Virgem Maria falou à vidente Bernardette Soubirous, era o lugar ideal para entronizar a imagem da Imaculada Conceição, sob a invocação de Nossa Senhora de Lourdes. E 18 de julho de 1892 foi a data memorável da dedicação desta gruta-ermida. O sentimento de gratidão, porém, exigia uma expressão de fé mais clara ainda. Desde tempos imemoriais que os católicos portugueses tributavam culto Àquela que foi concebida sem pecado original; a proclamação de fé e aclamação, como rainha, feita pelo rei D. João IV, em 1646, constituiu o aval mais nobre de reconhecimento à nossa Nação como Terra de Santa Maria. Mas foi o papa Pio IX, como vigário de Cristo e intérprete dos oráculos divinos, quem ratificou, como dogma, esta fé constante da Igreja. Por isso, um grupo de católicos teve a grata ideia de lhe erigir um monumento, memória perene deste ato feliz “que encheu de gozo a terra e os céus”. Então, o mesmo fervor, que depressa deu amplitude e condições ao local escolhido, foi complementado com a oferta da estátua por Fernando de Castro Abreu Magalhães (1816-1898), cidadão benemérito, natural de freguesia de são Nicolau, Cabeceiras de Basto e emigrado no Brasil, o mesmo que, um ano antes, oferecera a imagem de Nossa Senhora de Lourdes. No dia 8 de setembro de 1893, festa da Natividade da Virgem Maria, uma multidão de fiéis peregrinou até ao alto da Penha para cantar louvores a Maria e participar na solene inauguração do Pio lX. Este acontecimento e esta data bem podem considerar-se como o dia da Penha, pois desencadearam o movimento ininterrupto da peregrinação anual de Guimarães e terras limítrofes à Penha. Efetivamente o próprio dia 8 ou o 2.º domingo de setembro constituiu-se a data anunciada para subir à Penha em peregrinação. Sobre um imponente pedestal em granito de forma octogonal com 10 metros de alto e cinco de largo foi colocada a estátua de Pio IX feita em mármore de Carrara com cinco metros de altura e 4800 quilos de peso, ostentando na mão


esquerda a bula Ineffabilis Deus, documento oficial da proclamação do dogma, e com a mão direita abençoando o mundo, ao mesmo tempo que indica também a fórmula do caminho que os cristãos devem ter sempre em mira: “por Maria a Jesus”. De referir, como é natural, que esta obra tão apreciada é da autoria de Pedro Afonso Pequito, à época desenhador da Câmara de Lisboa e executada por Germano da Silva & Filhos nas suas fábricas de Lisboa.
O papa Pio IX, Giovani Maria Mastai-Ferreti (1792-1878), exerceu o mais longo pontificado da história da Igreja; desde a eleição (16.06.1846) até à morte (07.02.1878), decorreram mais de 32 anos. Foram tremendos alguns desafios que teve de enfrentar, aqueles que, aliás, caraterizaram uma nova era da História Universal, a Idade Contemporânea, especialmente pela influência decisiva da Revolução Francesa (1789). Através de vasta produção doutrinal, procurou ele responder aos sinais dos tempos, com realce para a condenação das sociedades secretas, Maçonaria e Comunismo pela bula Syllabus e do Modernismo pela Syllabus errorum. O seu zelo de pastor e pontífice supremo ficaria assinalado com a realização do Concílio Vaticano l (1869-1870), no qual foi definida a infalibilidade pontifícia. Foi grande o seu sofrimento pelas ondas de contestação provocadas pelas correntes de pensamento republicano, liberal e laicista; simultaneamente a estas, esteve envolvido na luta da Unificação da Itália com a perda irreparável dos Estados Pontifícios. Em tudo e sempre, porém, ele soube honrar o cargo de guia e defensor da Igreja. A ação deletéria dos inimigos da Igreja e da Religião também se fez sentir entre nós, de forma acentuada na 1.ª República, com o incómodo que lhes fazia a presença simbólica da estátua do Pio IX. Vem a propósito referir sumariamente um episódio, relatado pelo insuspeito dr. Mariano Felgueiras (1884-1976), elemento graduado da Maçonaria depois de declaradamente se ter reconciliado com a Igreja. Na edição do jornal O Conquistador de 27.10.2000, o padre Manuel Faria Alves (n.1937), então pároco de são Paio, Guimarães, em jeito de memória e homenagem, refere o que, em dada altura, aquele lhe afirmara: Que “certa noite de inverno os correligionários vieram anunciar-lhe que tinham colocado dinamite no monumento a Pio IX para despoletar de madrugada. Perante isto, ordenou que o acompanhassem à Penha e, na sua presença, mandou salvar o monumento a Pio lX, retirando a dinamite”. Notando ele hesitação em acreditar, por parte do seu interlocutor, “hirto como quem está ofendido, refere o padre Manuel Faria, “exigiu: tem que ir verificar no local os sinais que ainda lá estão. O senhor vai junto do monumento na direção de Moreira de Cónegos, sobe as escadas e num ângulo, à altura dum homem, encontra na pedra um buraco da grossura duma broca de pedreiro. Ali estava a dinamite”. É verdade; os sinais ainda lá estão.

No Largo do Pio IX, por detrás da estátua, virada a nascente, está uma cruz de pedra. É a 14.ª e última cruz da Via-Sacra, cujo percurso vai desde o santuário contornando, pelo lado poente, toda aquela majestosa saliência granítica em que assenta a propriedade do papa da Imaculada. Aquela Via-Sacra foi edificada em 1983 pela Irmandade de Nossa Senhora do Carmo da Penha, sob a presidência de Joaquim da Costa Cosme (1933-2014), por sugestão do reitor do santuário e apaixonado da Penha, padre Adelino Fernandes Martins da Silva (19332001). Ficou assim realizado o propósito do arciprestado de Guimarães em assinalar condignamente o dom precioso que foi a proclamação daquele ano, por João Paulo II, como Ano Santo da Redenção, celebração dos 1950 anos da Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo.

Em 3 de setembro do ano 2000, Pio IX foi beatificado pelo papa João Paulo ll. Deste modo os fiéis ficaram com a certeza reforçada de que a prática de virtudes heroicas lhe valeu a glória do Céu e o creditaram como valioso intercessor. Confiadamente esperamos que se apresse o dia da canonização, para maior glória de Deus e para reavivar, ainda mais, o sentido da inscrição, patente no pedestal da sua estátua-imagem “A PIO IX, O GRANDE PONTÍFICE DA IMMACULADA ERIGIRAM ESTE MONUMENTO A CIDADE DE GUIMARÃES E CATHÓLICOS PORTUGUEZES 8.IX.1893”.



50 anos do 25 de Abril
O tema “Abril e Liberdade” foi um dos assuntos fortes dos nossos Cadernos Osmusiké nº. 2, editado em Abril de 2021, centrado em testemunhos e vivências diversas sobre o 25 de Abril de 1974.
Desta feita, porém, decorridos 50 anos sobre a Revolução dos Cravos, impõe-se uma (nova) abordagem, que celebre a data, focada nos seus principais legados, evocações, protagonistas, visões e testemunhos pessoais, inclusive acerca de alguns deles já falecidos como José Casimiro Ribeiro e Mário Soares e outros como o coronel Rui Guimarães, nosso ex-capitão de Abril, numa das suas últimas entrevistas.
Aqui ficam por conseguinte, parafraseando o poeta Ary dos Santos, alguns pontos de vista, acontecimentos, conquistas e nomes que deram o seu nome a Abril e franquearam algumas das “portas que Abril abriu” ou tão-somente escancararam ou entreabriram…
25 de Abril na primeira pessoa
Entrevista com o coronel Rui Guimarães, conduzida por Silvestre Barreira



Rui Rolando Xavier de Castro Guimarães nasceu em Guimarães, na Rua de S. Sebastião, no dia 3 de março de 1943. Faz os seus estudos iniciais em Guimarães, na Escola das Domínicas e o secundário no então Liceu de Guimarães, atual Escola Secundária Martins Sarmento. Concluído o 7.º ano do liceu, ingressa na academia militar, em 1962, com 19 anos.
Participou na Guerra Colonial, tendo cumprido três comissões de serviço, em Angola e na Guiné.
Colocado como Capitão no Regimento de infantaria 8, de Braga, foi o representante dos militares da Região Norte, no 25 de Abril. Para além da delicada missão de conter e controlar o quartel em Braga, uma cidade muito conotada com o regime deposto, terá a seu cargo a tomada das instalações da PIDE/DGS no Porto, bem como a sede da Legião Portuguesa.
No regresso de uma dessas missões, passará com os seus oficiais, sargentos e soldados pela sua terra natal, vivendo com isso um momento único de felicidade, dele e da imensa multidão de conterrâneos que vitoriavam os soldados, o MFA e o “seu Capitão”. Fará, ainda, uma outra Comissão em Angola, já depois do 25 de Abril, como representante do Presidente da República, General Costa Gomes, auxiliando o MFA na transição para a independência da ex-colónia.
Chegou, entretanto, a coronel.
Como membro da A25A (Associação 25 de Abril), calcorreou um enorme conjunto de escolas em todo o país, partilhando o seu ideal de abril e da liberdade, com crianças e jovens de todas as idades.
Em 2023, foi condecorado pelo Presidente da República com a Ordem da Liberdade pela participação direta na Revolução.
Era membro da Comissão Promotora de Homenagem aos Democratas do Distrito de Braga e da Associação 25 de Abril.

No dia 27 de abril último, Osmusiké, capitaneados pelo seu amigo de sempre, Jorge do Nascimento, exalferes miliciano e companheiro de muitas lutas na revolução, com o Teatro Jordão cheio como um ovo, prestaram-lhe o tributo já há muito merecido. Desta forma, no dia 29 de abril, o Coronel Rui Guimarães, no final de mais uma sessão com os alunos sobre o 25 de abril, desta feita na EB2,3 Afonso Henriques, concedeu-nos uma Entrevista, a sua última entrevista formal, conduzida pelo Silvestre Barreira e que apresentamos a seguir.

Dissemos “última entrevista” porque, no fatídico dia 3 de julho de 2024, deixou-nos para sempre. Ficamos todos tristes e mais pobres.
Treze anos depois de uma guerra cada vez mais exigente, com exaustão de recursos humanos, dificuldades de abastecimento de material e de equipamento, os oficiais do quadro permanente, nomeadamente os capitães, com a consciência de que a Guerra Colonial não fazia sentido nenhum, porque o destino era morrer, hoje, para voltar a morrer amanhã. Sem uma solução que passasse pela negociação a situação caminhava para a derrota. Por outro lado, o contacto com os soldados permitiu conhecer a real situação em que o povo vivia, para além da situação política dominada por uma ditadura.
A questão profissional dos capitães oriundos da Academia Militar aumentou mais ainda o mal-estar que então viviam com a publicação de legislação decretada pelo governo sobre a progressão na carreira dos milicianos que despoletou uma reação sobretudo dos Capitães do quadro que evoluiu para o Movimento das Forças Armadas.
O Coronel Rui Guimarães, então capitão, descreve e analisa a evolução da situação que levou ao Golpe

de Estado que se transformou em revolução com a adesão massiva da população. Tal aconteceu numa conversa que mantivemos com ele, no dia 29 de abril de 2024, exatamente no mesmo dia em que fazia 50 anos que o então capitão Rui Guimarães, no regresso do Porto para o RI 8 de Braga, quis passar pelo Toural para saudar e agradecer ao povo da sua terra o apoio dado para que o golpe de estado pudesse ser considerado uma revolução com a adesão incondicional da população. Eu, Silvestre Barreira, e o Jorge do Nascimento Silva, amigo e colega desses tempos, colocamos-lhe questões orientadoras cujas respostas construíram a Entrevista que segue.
Q - Há uma situação anterior a 1974 que tem a ver com o desenvolvimento da Guerra colonial, chamada pelo regime Guerra do Ultramar, e com a questão dos recursos humanos, principalmente a nível de capitães, que tinham uma função especial no terreno. Queres falar disso?
A base de todas as atividades das unidades operacionais era o escalão de companhia e a esse nível cada uma era comandada por um capitão que, depois, tinha alferes, normalmente milicianos, e os sargentos e, finalmente, os soldados das diversas especialidades. Das diversas patentes só um ou dois eram do quadro permanente; os restantes eram todos milicianos.

Com o decorrer dos 14 anos de guerra chegou-se a uma altura em que os efetivos militares em praças, num contingente que era da ordem dos 100.000 homens, começou a escassear de tal ordem que já havia dificuldades em constituir-se companhias orgânicas e muito menos enquadrá-las com capitães e sargentos do quadro. A certa altura, já não havia mais Capitães e, então, o governo começou a fazer habilidades, sendo uma delas recrutar alferes milicianos, integrá-los no quadro permanente, promovê-los a Capitães milicianos que ingressavam no serviço e enviá-los para a Academia Militar e os cursos de 4 anos eram, então, reduzidos

a 6 meses e eram equiparados a oficiais do quadro, conseguindo, desta forma, recrutar Capitães que assegurassem as comissões de serviço no denominado Ultramar. Mas pior ainda ficavam com a antiguidade do tempo enquanto oficiais milicianos. Ou seja, iam buscar anos atrás o que correspondia, na prática, a que, passado algum tempo, esses oficiais milicianos, agora capitães e tenentes, que entraram na Academia Militar saíam já militares que ultrapassavam todos os outros do quadro.
Ora a tropa tem conceitos intangíveis e a não ser que seja por prestação de serviços relevantes, respeitase a antiguidade, mas, daí para a frente, tendo em conta o que atrás referi, começou a haver ultrapassagens injustas dado o mau funcionamento da cadeia hierárquica e das unidades.
Os oficiais milicianos, capitães, como referi, foram buscar a antiguidade desde a sua incorporação como oficiais milicianos e ultrapassaram todos os outros, alguns já majores.
Então, o governo tentou corrigir a situação de modo a que os oficiais superiores não fossem ultrapassados, mantendo-se a posição a nível de capitão. Isto conduziu a um mal-estar ainda maior da oficialidade, mantendo-se a posição a nível de capitão. Nessa altura interrogamo-nos sobre a razão de o governo ter esta atitude e concluímos que não havia outro recurso porque a guerra colonial, como guerra, não tinha saída e não havia quadros suficientes para a aguentar. Então, sacrificavam tudo e nós pensámos que isto ia ser uma segunda Índia porque o problema foi o afunilamento e não reconhecer a nova ordem mundial.
Q - E como se enquadrava a questão nessa nova ordem Mundial?
Essa situação é determinada pelos Estados Unidos da América com a constituição da ONU que reflete, no art.º 7.º, o que impuseram ao Reino Unido para participar na II Guerra Mundial, ou seja, que tinha de abandonar o seu império colonial e que esses países tivessem acesso à autodeterminação e à independência.
Todos os países foram fazendo, de uma maneira geral, a descolonização exceto Portugal que idealizou a teoria de um país uno, do Minho a Timor, contrária à nova ordem mundial no que se refere à situação colonial. O governo português da altura assim não o reconheceu e conduziu o país para uma guerra colonial com prejuízos humanos gravíssimos e que podia impedir as futuras relações, que deveriam ser de uma convivência sã, com os novos países após a independência.

E muito fez Portugal e o 25 de Abril para que, poucos anos depois, as relações Estado a Estado com os novos países independentes fossem fluídas e boas, mas a um custo muito grande.
Q –A escassez em recursos humanos, necessários à satisfação das necessidades da guerra, a questão do abastecimento do armamento, sendo que o do inimigo era mais moderno e eficaz que o nosso, agudizaram os problemas no campo de batalha?

Rui Guimarães, Jorge do Nascimento Silva e Silvestre Barreira (entrevistador), no dia 29/04/2024
Por isso, como antes referi, quando as Nações Unidas, através do Comité dos 24, depois Comissão de Descolonização, que tinha como incumbência e missão de promover a autodeterminação e independência dos povos e dos territórios, publicitou esta disposição, Portugal começou a ser permanentemente condenado por todas as organizações internacionais, quer na Assembleia Geral, quer nas comissões, e de algumas fomos mesmo compulsivamente expulsos. Por outro lado, ficou determinado, a nível internacional, impedir os países de vender armamento a Portugal e, por outro lado, facilitavam aos movimentos de libertação a aquisição desse material.
Onde começámos a ter uma situação mais complicada foi na Guiné, quando o PAIGC numa primeira fase anunciou que ia ter os mísseis terra-ar strela e numa segunda usou essa arma, fez pousar a Força Aérea, que era o nosso elemento de desequilíbrio até aí na conduta da guerra, pois o inimigo não tinha aviões. A partir daí a nossa supremacia desapareceu, tanto em termos militares como de saúde. É que a coisa pior que pode suceder numa guerra é o soldado perceber que se for ferido não tem evacuação donde resultam duas coisas: primeiro, as dores horríveis provocadas pelos projeteis e fragmentos das granadas e, depois, o saber que, no

mato, só é possível fazer os primeiros socorros e é irrealizável estancar os ferimentos mais graves, o que afetou profundamente a moral das tropas.
Para além disso, também afetou a profundidade das ações militares de contraguerrilha que nós efetuávamos porque tínhamos sempre em atenção a capacidade de a Força Aérea poder vir apoiar. A situação foi-se agravando e o número de baixas aumentando.

Na Guiné o inimigo desenvolveu um ataque para isolar duas grandes unidades: tomaram conta de Guilege e cercaram completamente Guidage. Começámos a ver ali um grande esforço militar de tal ordem que provocou grandes baixas, sobretudo nos comandos africanos, nomeadamente numa operação sobre uma base do PAIGC, situada no Senegal, para abastecer a Guerrilha no interior da Guiné Bissau. Embora tenham atingido o objetivo, a reação do inimigo que tinha agrupado forças para vir em nossa perseguição, dificultou a retirada, provocando um regresso muito difícil e com muitas baixas. Foi uma situação muito complicada para retirar as nossas forças que se tinham introduzido no Senegal.
Q - Fica a ideia de que há dois problemas: O primeiro é de efetivos militares e o segundo tem a ver com a guerra em si?

No que se refere aos efetivos militares já não havia capacidade, o país estava exausto, o equipamento estava a ficar ultrapassado e até havia falta dele e os movimentos de libertação apresentavam no terreno, como já referi antes, equipamento superior àquele de que os portugueses dispunham e podiam repor sempre o material de que necessitavam. Os portugueses não conseguiam material porque por determinação da ONU era proibida a venda de equipamento a Portugal. No princípio, ainda vendiam algum equipamento, à socapa, mas a partir de certa altura disseram mesmo que tinha acabado essa venda.
Então chegamos à conclusão de que aquela guerra não tinha sentido nenhum porque o destino era morrer hoje para voltar a morrer amanhã uma vez que o destino estava traçado pela nova ordem internacional no sentido de os territórios serem autónomos e as suas populações terem direito à sua autodeterminação e independência. Assim determinava o mundo todo pelo que novos países surgiriam. Ia-se a continuar a morrer todos os dias até que se perdia a guerra completamente…
Claro que o Governo tentou resolver a situação recorrendo a dinheiro, mas também já não havia sequer o número de capitães necessários à quadrícula, fundamental para se fazer a guerra e a ocupação do terreno. Recorreu-se a oficiais milicianos e já nem se punha o problema de irem para a Academia Militar. Ia-se procurar oficiais que, por razões várias, não tinham ido ao ultramar, e, em quatro meses, promoviam-se a capitães, entregavam-se 160 homens, que era o efetivo de uma companhia, a esse oficial que não tinha experiência nenhuma para ir continuar a fazer a guerra. E foi aí que começámos a ter graves problemas em dois casos: nuns de indisciplina, noutros de incapacidade técnica militar para a condução das operações, que resultava em baixas sofridas pelo exército todo. Os jovens a quem se punham os galões de capitão não tinham o conhecimento e a experiência para um ambiente de guerra de uma exigência cada vez maior. Daí o interrogarmo-nos como queria o governo resolver o problema e entendemos que assim não tinha solução.
Como o regime era uma ditadura que não ouvia o povo, prendia e torturava quem discordasse. A solução passava por termos de substituir o governo para depois instituir uma democracia e, com vários partidos, fosse possível encontrar soluções negociadas que permitissem uma nova política para o exterior que iria conduzir à autodeterminação dos povos e por sua vez à constituição de novos países, os PALOP, que acabaram por fundar a CPLP a Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa. Novos países a falar português com gente portuguesa lá dentro.
Q - O que achas que conduziu ao abandono da população, maioritariamente branca, desses

territórios?
Toda a população que vivia nas colónias decidiu regressar ou abandonar a terra em que vivia, porque, embora considerassem que todos tinham a cidadania desses países, não estavam disponíveis para optar por uma nova vida com riscos de segurança e outros novos, que eram os de integrar uma nova sociedade, agora com uma autoridade nova, que era a africana. Ora essa autoridade chocava com a evocação que deles tinha tido, com uma insegurança provocada pelas guerras acirradas que começaram entre os próprios movimentos, que já vinham do antecedente causadas por influências geopolíticas, o que levou a que abandonassem o território com tudo de mau que há numa saída nestas condições.
Há coisas que falharam, mas nós fizemos tudo para que não falhassem.
Por exemplo, em Angola, fez-se o Acordo do Alvor que tinha por objetivo dar um enquadramento jurídico em que os brancos pudessem continuar nas colónias, depois países independentes, realizar os seus anseios e pudesse haver uma comunhão de povos e de interesses.
A Geopolítica interveio e, na prática, invalidou a realização e concretização do Alvor, mas os acordos não eram para cumprir.
Então refletiu-se aqui a relação que os movimentos de libertação tinham com as grandes potências e a sua influência – Estados Unidas da América (que apoiava FNLA) e a União Soviética (que apoiava o MPLA). Os confrontos, que já aconteciam antes, transformaram-se numa violenta guerra civil, em que os interesses geopolíticos se defrontaram.
Q - Vamos, agora, abordar a tua participação pessoal no Movimento dos Capitães. Já me disseste que estiveste na Guiné, não participaste na primeira reunião em Alcáçovas no Alentejo…
Estávamos, nessa altura, em Braga, três oficiais que eram de Guimarães (Victor Soares Leite, Joaquim Machado Ferreira e eu próprio) e quando se fez essa reunião quem devia ir ao Alentejo representar a unidade, o Regimento de Infantaria 8 de Braga, era o Victor Soares Leite. À última hora teve um problema e pediu-me para o substituir, só que eu iria estar de serviço, oficial de dia, nesse fim-de-semana, pelo que precisava da autorização do comandante do Regimento para autorizar a troca. Não sei porquê, e ainda hoje não sei, quando pedi para fazer essa troca de serviço ele não me autorizou, pelo que era obrigado a cumprir. Ainda tentei que um dos outros dois fossem a essa reunião, mas não tinham disponibilidade.

Q - Mas antes disso tiveste contactos com o Movimento. Qual foi o primeiro?
O primeiro foi o Machado Ferreira que o teve e depois transmitiu a mim e ao Victor e era para assinar um documento para contestar a situação. Fizemos depois manifestações públicas, expondo, em requerimentos, e refutando essa disposição - umas ao Presidente da República, outras ao Primeiro-Ministro Marcelo Caetano e outras ao Ministro do Exército.

O enquadramento jurídico do Acordo do Alvor previa que os brancos pudessem continuar nos novos países independentes e realizar os seus anseios. A Geopolítica interveio e invalidou a concretização do acordo que resultou no abandono do território com tudo
A situação foi evoluindo sucessivamente e ainda fizemos um abaixo-assinado quando houve alteração do decreto-lei 55653 que afastou das consequências negativas os oficiais mais antigos e graduados que já não eram ultrapassados, o que agravou ainda mais a situação no sentido em que, depois, prejudicava só os capitães.
O Movimento dos capitães, que não era clandestino, começou a protestar cada vez mais, com documentos assinados, entregues ao comandante.
A situação foi-se agudizando e as circunstâncias dentro das unidades começaram a ser de enormíssima

tensão. Até que a contestação evoluiu no sentido que já referi. Então a contestação extravasou o movimento dos capitães que começou a ser o Movimento das Forças Armadas quando a Marinha (a seguir, com maior empenhamento) e a Força Aérea (numa posição de neutralidade) estiveram presentes com os seus representantes.
Q - Desenvolveu-se, então, toda a preparação do golpe. Quanto tempo antes tiveste a informação que ia acontecer?
Nós tivemos conhecimento antes, mas só no dia 23, salvo erro, soube que ia acontecer.
Q - A partir de determinado momento estava tomada a decisão de realizar uma ação militar para mudar o regime. Então iniciou-se a preparação e planeamento das operações. Tiveste alguma intervenção nesta preparação?
Tive na preparação do golpe, aqui no Norte.
A grande linha do plano de operações foi feita pelo Otelo e tinha dois grandes objetivos: Um tinha a ver com o acordo ibérico que as ditaduras de Franco, em Espanha e em Portugal, de Salazar, tinham para a proteção e defesa mútua dos regimes. Tendo conhecimento desse acordo tínhamos o receio de que o Exército de Espanha viesse em socorro da ditadura salazarista e invadisse Portugal, se isso acontecesse. Aí tínhamos um objetivo que era o de criar o tempo necessário, se tal ocorresse, para que isso tivesse repercussões internacionais e por isso o Governo de Espanha fosse obrigado a terminar essa invasão, por um lado, por outro colocando forças na zona da fronteira – Valenca, Viana do Castelo etc. A Força de Caçadores 9, de Viana do Castelo, dirigiu-se para fronteira pois estava lá uma Força do Batalhão que estava mobilizado para a Guiné e que marcharia e marchou para ocupar o aeroporto de Pedras Rubras, no Porto, e em outras unidades assim aconteceu, mas depois havia os objetivos locais.
Braga tinha um objetivo psicológico determinante para resolver, porque era conhecida como a capital moral do fascismo, porque dali tinha partido o golpe de 1926, o fim da República e a implantação da ditadura militar, numa primeira fase, e, depois do regime fascista do tempo de Salazar e Caetano. Tinha de haver um cuidado especial para que ali não acontecesse uma acão militar que se pudesse desencadear contra o movimento do 25 de Abril, porque ali havia várias organizações fascistas e paramilitares como a Legião Portuguesa e também a PIDE.

Portanto, nós tínhamos de manter Braga sossegada e outra coisa importante que era não permitir a reação de determinados sectores militares contra o 25 de Abril, porque o comandante da unidade, naquela altura, era um homem da situação. Quando foi a intentona do 16 de março, publicou um documento num jornal de apoio da unidade ao regime, à política ultramarina e queria preparar a unidade para apoiar o regime. Confrontei-o afirmando que as Forças Armadas defendiam o povo e o território e não o governo que, para isso, tem outras forças e que não comandava militares contra camaradas meus em defesa de regime nenhum.
E quando foi o 25 de Abril chamei o comandante à unidade porque tendo-o lá dentro, no seu gabinete, podia controlá-lo e impedir Ações que ele podia desenvolver. Então, ele lembrou-me a conversa que mencionei e eu expliquei-lhe a diferença, referindo que isto se passava em todo país, o governo cairia a curto prazo e o objetivo era resolver os graves problemas que a sociedade portuguesa enfrentava, nomeadamente a guerra colonial.
Q - Esses objetivos fixados localmente depois foram concretizados?
Aos poucos e poucos serenamos a Polícia e a GNR, comandados por homens da confiança do regime, mas que também eram nossos camaradas, nos conhecíamos, tratávamo-nos por tu, o que permitiu dizerlhes: “não faças nada, não resolves problema nenhum, só vais complicar desnecessariamente. Está quietinho, deixa-te estar aí dentro que o problema é connosco e nós vamos resolver. Não vale a pena complicar o que não tem complicação. Não te metas nisto que o problema não é teu e acabou”.
E Braga ficou tão serena que só reagiu no dia 26 em que há a primeira manifestação do povo da cidade. A essa eu já não assisti porque saí com a minha companhia para cumprir missões no Porto, relativas à Pide, Legião, etc. Isso já foi outra parte mais à frente.
Mais tarde, o Capitão Machado Ferreira vai com a companhia dele para controlar o aeroporto de Pedras Rubras e render o pessoal que tinha vindo de Viana e que precisava de sair para tratar de outras missões.
Q - Então é no regresso da tua missão no Porto que passaste por Guimarães…
Depois há duas áreas, uma é técnica, nunca se deve regressar pelo caminho que se usou na ida, deve-se regressar por outro itinerário, portanto é o que tinha de fazer.
Então, eu fui por Famalicão e regressei por Santo Tirso pelo que tinha de passar por Guimarães, onde o

meu amigo António Mota Prego conhecia todas estas dissidências que havia nas Forças Armadas por causa dos problemas e da sua solução de que já falámos. Como ia passar por aqui ele vem ao meu encontro e dizme que Guimarães em peso está no Toural e quer cumprimentar o Movimento das Forças Armadas. Passei pelo Toural e foi muito importante porque vi todos aqueles meus amigos do tempo da Escola, do Liceu e tudo isso provocou-me uma emoção impressionante revê-los ali, na rua, e a felicitar os militares. Aliás, já no dia 26 de abril uma delegação do RI 8, representada pelo Capitão Machado Ferreira e pelo Alferes miliciano Jorge do Nascimento Silva ali tinha estado a convite da comissão Concelhia de Guimarães do Movimento Democrático do Distrito de Braga para agradecer ao povo a sua adesão, antes de irem para o Porto substituir a minha companhia.
Passei pelo Toural e depois pelas Taipas onde também me obrigaram a parar para felicitar o Movimento


das Forças Armadas e segui para a Unidade.
A partir daí a situação passa a ser diferente, já é outra fase: desmantelar todo o aparelho fascista que existia, desde a Legião e outras organizações de apoio ao regime, quer político, como a Ação Nacional Popular, quer de outro tipo de atividades - a Mocidade Portuguesa, o Movimento Nacional Feminino e outras do aparelho que o Estado tinha com a finalidade de manter a guerra colonial. Tivemos de desmontar isso tudo e fui eu que tive a maior parte de recolha do espólio que existia na sede concelhia da Legião Portuguesa da região e noutras organizações sendo transportado para o Quartel e guardado nas antigas instalações da Cavalaria.

Q - A adesão popular espontânea surpreendeute?
Há dois tipos de adesões. Desde o início o movimento do povo vir para a rua vai transformar a própria arquitetura do Movimento das Forças Armadas porque se tem ficado parado aquilo seria apenas um golpe de estado. Quando o povo vem para a rua apoiar o Movimento e começa a fazer as suas reivindicações políticas, da injustiça, da tentativa de impedir a fome, os problemas sociais terríveis que vinham da situação sanitária, etc… tudo isso se transforma noutra coisa. É nesse momento em que o povo vem para a rua que o Golpe de Estado se transforma numa revolução.
No nosso programa tínhamos posto três Ds – democratizar, Descolonizar e Desenvolver – mas esse primeiro Desenvolvimento é o de satisfazer as necessidades mínimas que sabíamos haver. Nós tínhamos soldados e sabíamos que eles passavam fome. Nós íamos às famílias, tirávamos os seus filhos que trabalhavam e eram eles que as sustentavam. E até se fazia uma obra

de apoio social através da Obra de Assistência às Praças, dentro das Unidades, que era saber onde os soldados estavam em grandes dificuldades e a própria Unidade arranjava géneros alimentícios para eles levarem para as suas famílias que ficaram sem nada porque constituíam a sua força de trabalho e de sustento e vieram para a tropa ganhar o pré que era de poucos escudos que dava para pagarem um café e o tabaco, mas as famílias ficavam na miséria. Depois, para a assistência às praças, houve um sistema, que os regimes inventam sempre, que gerava outras injustiças. Criaram as Comissões de Amparo que investigavam as condições socioeconómicas dos soldados e se a família com sua saída ficasse na miséria, era dispensado do serviço militar. Mas o regime arranjou logo outra situação: se tivessem outros irmãos eram eles que deviam assegurar a subsistência dos pais, ou seja, outro problema social gravíssimo que era os soldados irem para a guerra, nela morrerem ou regressarem estropiados e as famílias ficarem na miséria porque a sua força de trabalho e de subsistência tinha partido.

Q - O que sentiste, há dias atrás, no Teatro Jordão, com a homenagem que Osmusiké e, no fundo, Guimarães inteiro, te prestaram, passados 50 anos?
Como filho da terra, senti uma alegria profunda. As pessoas que encheram o Teatro Jordão são da mesma têmpera que as que encheram o Toural, há 50 anos atrás.
As gentes de Guimarães sempre souberam ser reconhecidas e eu sinto-me muito feliz. Colaborei intensamente para devolver a Liberdade aos portugueses, fi-lo convictamente e, hoje, sinto que estive no lugar certo da história. A minha gratidão a este povo e de forma também singular a Osmusiké que tiveram este carinho por mim. Um abraço ao Jorge do Nascimento Silva,


que reencontrei, 50 anos depois, naquele palco emblemático do Teatro Jordão, com quem trabalhei junto na mesma companhia do RI 8. Um agradecimento final ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Dr. Domingos Bragança, e nele a todo o povo desta terra de Vimaranes.



Manuel Ferreira39
Costumo evidenciar que, em 1956, a maior riqueza que os meus Pais me poderiam ter dado, foi, precisamente, porem-me a estudar nos Seminários Arquidiocesanos de Braga, onde me mantive até Dezembro de 1962, dado que decidi sair do Seminário quando frequentava o Segundo Ano do Curso de Filosofia.
Quando saí do Seminário, envolvi-me, então, em diversas iniciativas, na Comunidade de Fermentões, onde nasci, e onde, então, pude aprender, e muito, com o saudoso José Francisco do Nacimento Abreu Coutinho Brandão, para nós, com muito carinho, o Senhor Coutinho, que, sendo, então, Funcionário da Câmara Municipal de Guimarães, criou e dinamizou, na Paróquia de Fermentões, excelentes iniciativas, nomeadamente, entre outras, o CNE – Corpo Nacional de Escutas, o Grupo Coral da Paróquia e um Grupo de Teatro.
O Senhor Coutinho, entretanto, concorreu, e foi colocado em Viana do Castelo, onde trabalhou, durante alguns anos, no Governo Civil. E, neste contexto, então, fiquei eu mesmo a coordenador o Grupo Coral de Fermentões e o Grupo de Teatro.
Em princípios de 1963, encontrei uma oportunidade de trabalho na Agência de Viagens e Turismo CARSO, na Cidade de Guimarães, onde estive cerca de cinco meses, tendo, depois, concorrido para Estagiário das Repartições de Finanças, ficando colocado na Repartição de Finanças de Viana do Castelo, onde me mantive cerca de três meses, já que, tendo surgido um concurso para admissão de um Escriturário da Câmara Municipal de Guimarães, concorri e fui admitido em Dezembro de 1963, onde me mantive até ir para o Serviço Militar Obrigatório, em Janeiro de 1967. Depois de terminar o Serviço Militar Obrigatório, na Secretaria da Esquadra de Radar, em Paços de Ferreira, concorri para o então BNU – Banco Nacional Ultramarino, tendo sido colocado na Agência de Vizela, primeiro, e, depois, na Agência de Guimarães.
O Grupo de Teatro de Fermentões, com a ida dos seus Membros para o Serviço Militar Obrigatório, e, depois, também, para a Emigração, passou por muitas dificuldades e, na verdade, apenas conseguiu
39 Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, 1982/85

recompor-se já por volta de 1970.
Aproveitando o excelente trabalho que, então, desenvolvia o Grupo de Teatro do CAR – Círculo de Arte e Recreio, com o saudoso Dr. Santos Simões na liderança, o Grupo de Teatro de Fermentões criou, também, na Comunidade de Fermentões, uma grande dinâmica, assumindo-se como um Agente de Desenvolvimento da Comunidade, pelo que criámos, então, o Centro Cultural e Recreativo de Fermentões que, na verdade, se assumia como um verdadeiro Centro Comunitário, envolvendo-se em diversas iniciativas de apoio ao desenvolvimento da Comunidade de Fermentões e no apoio a dificuldades por que passavam muitas e muitos dos Cidadãos da nossa Comunidade. Quem é desses tempos, lembrar-se-á, naturalmente, da miséria e da pobreza que afetava muitas das Famílias, na Comunidade de Fermentões. E era, assim, neste ambiente difícil, que o Centro Cultural e Recreativo de Fermentões desenvolvia muitas iniciativas tendentes a minorar essas dificuldades.
Recordo-me, neste contexto, de que, em ano que já não consigo precisar, mas já no então designado,
PRIMAVERA MARCELISTA, o Governo decidiu que os Agricultores e os Trabalhadores Rurais, e suas Famílias, desde que fossem sócios de uma Casa do Povo, passavam a ter direitos a Serviços de Segurança Social, nomeadamente a uma Pensão de Reforma, Subsídio de Doença, e Serviços de Saúde. Em Fermentões não havia Casa do Povo, e daí, a nossa luta, nomeadamente nos Jornais, até que a, então, Delegação de Braga da Junta Central das Casas do Povo nos contactou para que a Freguesia de Fermentões aderisse à Casa do Povo das Taipas e os Agricultores e Trabalhadores Rurais de Fermentões que aceitassem ser sócios da Casa do Povo, também teriam os tais Direitos. Trabalho esse dinamizado pelo Centro Cultural e Recreativo de Fermentões, que passou a ser uma Delegação da Casa do Povo das Taipas, em Fermentões, salvo erro em 1973, o que aconteceu até Janeiro de 1979, quando foi criada a Casa do Povo de Fermentões.
Quando surgiu a Revolução de Abril, a Revolução dos Cravos, a Comunidade de Fermentões tinha já, na verdade, um excelente e dinâmico Centro de Desenvolvimento Comunitário, com um excelente trabalho que envolvia os seus Cidadãos em diversas dinâmicas de desenvolvimento da Comunidade. E, assim, foi excelente o enquadramento que a Comunidade de Fermentões pôde assumir, no novo contexto das novas dinâmicas de desenvolvimento comunitário que a Revolução de Abril de 1974 veio proporcionar a Portugal e aos Portugueses.
Foi, também, neste contexto que, em 1979, o Partido Socialista de Guimarães me convidou para ser Candidato a Presidente da Câmara de Guimarães, já que o saudoso Amigo Edmundo Campos, o primeiro

Presidente de Câmara eleito, em Guimarães, nas Eleições de 1976, não pretendia recandidatar-se. E aceitei o novo desafio, mas quem ganhou as Eleições, em Guimarães, foi o amigo António Xavier, eleito numa Lista da UD – União Democrática, se a memória me não atraiçoa. Neste contexto, fiquei a desempenhar funções de Vereador, com os Pelouros da Cultura, Desporto, Educação, Ensino, Assuntos Sociais e, também, o Turismo. Uma nova dinâmica criada já que o Governo havia criado, em 1979, a Lei das Finanças Municipais, com novas oportunidades que surgiram, então, para os Municípios.
Em 1982, voltei a ser o Candidato do Partido Socialista a Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, para o Mandato de 1983/85, Mandato que desempenhei, podendo destacar, entre outras iniciativas, a criação da Organização dos Serviços da Câmara Municipal de Guimarães, a criação da Régie Cooperativa TaipasTuritermas, Cooperativa de Interesse Público de Responsabilidade Limitada, que passou a assumir a recuperação e dinamização da Estância Termal das Caldas das Taipas, bem como a reorganização e dinamização dos Serviços de Turismo da Vila das Taipas. Devo destacar, ainda, que foi nesta minha Presidência que os Serviços de Distribuição de Energia, a cargo da Empresa Bernardino Jordão, foram concessionados à EDP – Eletricidade de Portugal, Empresa Pública. E, também, foi iniciada a elaboração do PDM – Plano Director Municipal, com a excelente Coordenação do Arq. Nuno Portas.
No Mandato de 1986/89, mantive-me como Vereador Municipal e, em 1990, a convite dos Presidentes das Câmaras dos Municípios da NUT III AVE, fui nomeado Administrador Delegado da AMAVE – Associação de Municípios do Vale do Ave.
Finalmente, posso referir que é muito agradável evidenciar o meu envolvimento nas diversas iniciativas em que estive envolvido, designadamente as iniciativas que ocorreram, a partir da Revolução de Abril de 1974, neste momento em que estamos a Comemorar os 50 Anos do 25 de Abril.
25 DE ABRIL, SEMPRE!
O 25 de ABRIL e o Poder autárquico
António Xavier40


Apesar da passagem do tempo e das suas sequelas, relembro impressivamente, ainda que por vezes um tanto ou quanto mais impercetivelmente, estas últimas décadas vimaranenses, que entre nós abriram portas à senda do progresso.
Realmente, ainda antes do 25 de Abril, rememoro, no início dos anos 70, o simbolismo galvanizador da colocação da placa “Aqui nasceu Portugal”, na Torre da Alfândega e a fundação da Unidade Vimaranense que, na sequência da manifestação de 10 de dezembro de 1970, viria a mobilizar a cidade e espoletar dinamicamente um movimento de novas conquistas e da identidade vimaranense.
De facto, recordo, esses tempos impulsionadores, ocorridos pouco antes do 25 de Abril, nos quais fervilham já momentos de euforia, traduzidos na criação da Universidade do Minho em 1973 e o consequente polo de Guimarães, bem como a reivindicação dos parques industriais que estavam a ser implementados, mas que não contemplavam a cidade-berço, momentos vivenciados de iminentes saltos em frente.
Tempos em que destaco, entre outros homens dessas lutas, nomeadamente Laurentino Ribeiro Teixeira, homem ligado à Unidade Vimaranense e pessoa dinâmica, afeito à sua terra, a quem se deve parcialmente a ideia de substituir, na muralha da Torre da Alfândega, as afixações publicitárias costumeiras e colocar em alternativa o dístico “Aqui nasceu Portugal”, expressão lapidar e emblemática que ainda lá está e hoje, numa Torre recuperada e acessível à visita de quem o desejar. Um enunciado e insígnia simbólica que teria sido proferida pela primeira vez em 1927, na Sociedade Martins Sarmento, pelo conferencista Agostinho Campos (1870-1944) e que, posteriormente, Eduardo Almeida (1884-1958) reutilizaria, no decurso da evocação da Batalha de S. Mamede, em 1928, e que posteriormente passaria a ser apropriada pelo povo. Efetivamente, foi ele, enquanto trabalhador da fábrica de mobílias de Alberto Pimenta Machado, que produziu essas letras em madeira, numa iniciativa clandestina que conjuntamente comigo e com mais uma pessoa de Santa Luzia,
40 Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, 1979/82 e 1986/89

da qual não recordo o nome, mas ainda vivo, subiram escadas de improviso e alcandoraram “Aqui nasceu Guimarães” ao cimo da muralha. Uma ousadia que depois seria licenciada pela Câmara Municipal, que também substituiria o tosco placard inicial por outro mais apropriado e mais conducente aos seus fins, que ainda hoje lá se inscreve.
Posso assim dizer que, após esta modesta participação reivindicativa pelos interesses de Guimarães, anterior à Revolução dos Cravos, seria no pós 25 de Abril que mais me envolveria com a minha cidade, em especial no exercício do associativismo e do Poder Local, pontos fortes do desenvolvimento nacional e concelhio. Foi assim que, nos anos 60 fui um dos fundadores da Assembleia de Guimarães e membro da direção da Casa dos Pobres de Guimarães, hoje Lar de Santo António. Em 1970 estive também na primeira linha do movimento que criou a associação “Unidade Vimaranense” e a “Unidade - Sociedade de Empreendimentos de Guimarães, SA”. Fui ainda um dos animadores do grupo “Ritmo Louco”, que foi, como se sabe, o antecessor do Círculo de Arte e Recreio (CAR) e quero recordar os meus tempos de jogador de Hóquei em Patins do Vitória Sport Club, atividade que me deu imenso gozo praticar defendendo as cores do Vitória S C.
Na vida política do meu concelho, além da minha participação na primeira Assembleia Municipal da Democracia, entre 1976/1979, exerci dois mandatos enquanto Presidente da Câmara, respetivamente nos anos iniciais da década de 80 (de 16 de dezembro de 1979 a 12 de dezembro de 1982), altura em que presidi também à Assembleia Geral do Vitória) e ainda, no período de 1986-1989 (de 15 de dezembro de 1985 a 17 de dezembro de 1989), em ambas as situações como candidato pela Aliança Democrática.
Recordo desses mandatos, a inauguração da Pousada da Oliveira, uma das primeiras instalações hoteleiras de qualidade da Cidade, que transitava do trabalho da Comissão Administrativa da Câmara Municipal, presidida por Edmundo Campos, mas sobretudo o trabalho de instalação de infraestruturas básicas no território municipal, em particular em matérias como as acessibilidades pavimentadas às freguesias, muitas das quais executadas por uma equipa especializada dos serviços de obras camarário. Vias de acesso que assim passariam ainda pelo início da execução dos acessos ao Parque Industrial de Ponte, que daria resposta à instalação de pequenas e médias empresas e criaria uma dinâmica empresarial que despontava, bem como a circular urbana e o centro rodoviário.
Saliento ainda a política de aquisição de terrenos, nomeadamente para o atual Quartel dos Bombeiros Voluntários, bem como na área da Avenida de Londres para a Urbanização dos Pombais, que, mais tarde, facultaria terrenos ao novo Hospital. Um projeto que, é bom lembrar, teria a sua 1ª fase nos finais dos anos

70 e inícios de 80 e que contaria com o grande apoio de Fernando Alberto Ribeiro da Silva, Governador Civil do distrito, político sagaz e respeitado pelo governo central, cujo legado está reconhecido na Sala de Estar de Sessão Solene, que recebeu o seu nome.
Igualmente, recordo as inaugurações dos quartéis da GNR da cidade, Caldas das Taipas e Vizela e do exedifício dos CTT, na Rua de Santo António, que infelizmente destruiu dois belos prédios do arquiteto italiano Sasoni e que, portanto, seria motivo de crítica acerba da minha parte, no decurso do meu discurso inaugurativo, perante membros do poder central, que ficaram atónitos com as mesmas, mas que era o meu sentir enquanto vimaranense.
Não posso também esquecer a aquisição do edifício da Associação dos Reformados, na Rua de Santo António, a requalificação da bancada central do Estádio Municipal e a sua eletrificação, bem como o apoio substancial a outras realizações de foro desportivo como o Complexo Desportivo do Vitória e a construção do pavilhão do Desportivo Francisco de Holanda. Mas, acima de tudo, o trabalho invisível de instalação do saneamento que era inexistente em artérias fundamentais do centro da cidade, bem como nas Taipas e Vizela. Paralelamente, encetou-se um trabalho inovador na reorganização dos serviços camarários, como a criação do Gabinete de Apoio às Freguesias, a instalação dos serviços de habitação e a autonomização do Gabinete de Obras Particulares.
A ajuntar a estas obras, algumas básicas e fundamentais, foi ainda possível a nível cultural, a aquisição da Casa Carneiro para instalar a Biblioteca Municipal Raul Brandão e levar a cabo a Euro-Arte, evento digno dos maiores encómios.
Confesso, no entanto, que no transcurso deste período de crescimento, tive a felicidade de me rodear e contar com a colaboração e parceria de uma plêiade de técnicos conceituados e dos melhores a nível nacional e internacional, como os arquitetos Fernando Távora, Nuno Portas e Álvaro Siza Vieira, sem os quais alguns planos urbanísticos e a grande recuperação do Centro Histórico, estreitamente ligada ao gabinete próprio que tive de criar para o efeito, não seriam viáveis. Uma obra gigantesca de que me orgulho que se prolongou para além dos meus mandatos e que os meus sucessores seguiram religiosamente e com o êxito visível.
E já que estamos em maré de confissões, confidencio ainda, segundo a minha perspetiva, que tudo isto só foi possível graças à minha independência partidária. Concretamente, do meu ponto de vista, o PSD não estava nada preparado para assumir a presidência da Câmara ao tempo e, portanto, deu-me liberdade total,

o que permitiu constituir uma Câmara à medida dos interesses de Guimarães, que envolveria a participação dos vereadores de outros partidos, situação que, infelizmente, mais tarde não seria replicado.
Em conclusão, orgulho-me de ter servido a minha terra que tanto amo, não só na vida empresarial e social, como também na política autárquica, não obstante nela ter caído um tanto ou quanto de forma caricatural e de maneira sui generis, inicialmente contra a vontade de meu pai. Na realidade, lembro-me claramente que fui designado candidato ainda ausente em férias, no Algarve, sem saber a razão pela qual ansiavam tanto o meu retorno a Guimarães! Deste modo, fizeram-me candidato, para surpresa minha e quiçá esta nomeação peculiar tenha sido a minha vantagem em relação aos outros, uma vez que não tinha obrigações político partidárias.
Ainda bem que trilhei estes caminhos que, como muitos outros, contribuíram para engrandecer Guimarães, pois “Aqui nasceu Portugal”…
Alterações provocadas pela revolução do 25 Abril de 1974
António Magalhães41


Foi-me solicitado pelos Osmusiké, um artigo para relembrar algumas situações/alterações provocadas pela revolução dos cravos, na passagem dos seus 50 anos. Vários especialistas se têm pronunciado sobre esta temática e, por isso, embora possa parecer que aquilo que vou desenvolver não tenha muito de novo, vou abordar alguns aspetos que ainda retenho na minha memória, quer do antes quer do pós-abril. Assim, o que se regista tem a chancela de especialistas de vários quadrantes que abordaram o tema com o conhecimento que me escasseia. Todavia, tendo eu origens numa aldeia do Minho profundo, ainda que viva há muitas décadas na cidade de Guimarães e tenha tido a oportunidade de viajar, em funções que me cometiam a cultura de muitos países quer da Europa, quer da África quer da América Latina, o que me permitiu conhecer e ir comparando o que Portugal viveu quer no período salazarista, quer durante o regime democrático. Começo por deixar umas notas do que, a meu ver, mais marcou o país no consulado de Salazar. A Igreja da época tinha um papel fundamental na conduta da população, sobretudo no mundo rural. Permito-me deixar uma nota sobre o que verifiquei na minha aldeia natal, onde, de quando em vez ia visitar os meus familiares e também, como era habitual na aldeia, ia à missa domingueira, pois era à volta da igreja que as pessoas se encontravam, que conversavam e faziam até os seus negócios. Distante do meu quinhão natal vários anos, perdi a perceção bem clara dos meus “vizinhos”. O “mundo”, nas regiões mais isoladas do país parou no tempo. A religiosidade da época era uma caraterística das pessoas que habitavam a minha aldeia. Este meu rincão tentava a todo o custo manter os valores tradicionais, do passado, enquanto, ainda que por ignorância a maioria defendesse tantas vezes até agressivamente os valores dos “novos tempos”. Já eu estava na Assembleia da República, a desempenhar a função de deputado, e ia à aldeia para visitar a família. Tal permitiu-me bem, em vários pormenores, aperceber-me quanto a ignorância política continuava a grassar por ali. No final da tarde, na aldeia, era comum as senhoras simples sentarem-se na proximidade das suas
41 Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, 1989/2013

casas e conversarem umas com as outras, para porem a conversa em dia. Deslocava-me ao centro da aldeia para comprar o jornal no único lugar onde existia. Quando atravessava a aldeia apercebia-me de que as senhoras, em amena cavaqueira, quando me viam entravam nas suas casas, de forma que fazia o percurso sem poder falar com ninguém. Este comportamento intrigou-me tanto que coloquei a questão ao senhor que vendia de tudo um pouco, mas também jornais. Para meu espanto, diz-me ele: Não sabe? As senhoras retiram-se à sua passagem, porque corre na aldeia que o Dr. António Magalhães é comunista. Qualquer fenómeno natural punha a aldeia em alvoroço. Recordo-me da passagem na zona do primeiro avião a jato, num dia de sol. O rasto que sulcava o céu assustava praticamente e designaram-no como um “sinal” que se pode traduzir num castigo divino algum pecado que a comunidade, ou parte dela, tivesse cometido. Perante um conceito como este ou outros similares, provocaria logo uma corrida para a Igreja e todos rezavam para eliminar os seus pecados e os dos infiéis. O pároco, que tinha outra dimensão cultural, em vez de explicar o fenómeno, impunha uma longa reza até que o cair da tarde dominasse naturalmente o fenómeno. Algum esclarecimento coevo por parte de alguém mais esclarecido e culto dificilmente era tido em conta, pois o que contava era a opinião do sr. Abade.
O fim do denominado estado novo contribuiu para cortar amarras que se faziam sentir praticamente a todos os níveis.
À medida que o distanciamento do regime se ia fragilizando, iam surgindo outros conceitos de vivência pessoal e mesmo das organizações representativas das comunidades. A população em geral estava ansiosa para assumir iniciativas que, como cidadãos, ou como entidades já constituídas, em praticamente todo o país para levar à prática aquilo que pressentiam poder estar ao seu alcance.
Os locais onde funcionavam, as escolas primárias, a conduta dos cidadãos no quotidiano foram-se adaptando a novos horizontes e, a pouco e pouco, conseguiram-se reivindicações da população que, a pouco e pouco, foi possível dar-lhe sequência, tal era o coletivo dos cidadãos para melhorar as suas casas, as ruas da sua cidade, as melhores condições de acesso à escola e o gosto com que apreciavam as alterações da sai cidade, vila ou aldeia.
Guimarães, na senda das alterações que se sentiam em todo o país, não adormeceu. Com o avanço do tempo foi granjeando apoios de cidadãos que reconheciam o talento que nos era devido, ajudaram e incentivaram a tornar Guimarães numa cidade emblemática no país e fora dele. Investiram-se muitos recursos o que nos permitiu realizar uma pequena revolução, levando-nos à reabilitação de monumentos, praças e

arruamentos que, hoje, pela sua singularidade e beleza, tantos turistas traz até nós. Julgo que muitos dos vimaranenses que se prezam, recordam que um incêndio de violência extrema destruiu o Mosteiro da Costa, ao tempo habitado pelos missionários do Verbo Divino. O que muitos vimaranenses não saberão é que Vasco Gonçalves, no tempo primeiro ministro , convidado para visitar o monumento, em “pleno PREC”, até com espanto nossos, mas perante o estado em que encontrou o mosteiro, de imediato, e no local deu ordens para reabilitar o edifício, o que veio a verificar-se no essencial, sendo complementada a reabilitação dos jardins e outros espaços que tinham sido poupados pelo fogo, mas que tinham sido votados ao abandono e ao esquecimento e que exigiam uma reabilitação que, hoje, nos orgulha, bem como a todos quantos o visitam e o usam para relaxar com a cidade mesmo aos pés.
À medida que os anos iam avançando perpassava na sociedade vimaranense a pretensão da recuperação de uma joia que a todos nos orgulha. O Castelo e a acessibilidade ao mesmo, as praças e ruas emblemáticas, os jardins e parques de lazer mereceram intervenções conduzidas por especialistas exigentes, competentes e capazes, que devolveram a esses espaços a matriz inicial e, agora reabilitados, são uma pérola e um pulmão de que todos fruímos bem como aqueles que nos visitam. Permito-me relembrar que o que foi conseguido se deve a técnicos com estatuto internacional reconhecido. Ficam ligados para todo o sempre a esta cidade que todos admiram nomes como: Arquitetos Fernando Távora e Nuno Portas, a Arquiteta Alexandra Gesta, sempre acolitados com os Técnicos do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Guimarães que continuaram muitas outras intervenções no espaço urbano. A reabilitação do Toural e da Alameda e o Cemitério de Monchique ficam ligados também à arquiteta Maria Manuel, que enveredou, agora, pela carreira universitária na Universidade do Minho. O acesso ao Castelo, a reabilitação da praça da Oliveira, da Praça de Santiago e outros recantos do Centro Histórico que, no seu conjunto, definem um período de vivência dos vimaranenses que, agora, se orgulham com o que foi possível conseguir com o apoio do governo central. Neste apoio quero destacar o Dr. Jorge Sampaio, cuja família viveu periodicamente em Guimarães; o Eng.º António Guterres a quem devemos o Pavilhão Multiusos; o Eng.º José Sócrates que desbloqueou a Plataforma das Artes.
De facto, após o 25 de Abril, Guimarães cresceu de forma sustentada, não só nos mandatos que tive o ensejo e orgulho de presidir, ou colaborar enquanto vereador, como também no decurso dos meus antecessores e continuadores, tornando-se difícil enumerar exaustivamente as conquistas dos vimaranenses.
Penso, contudo, que a cidade tem hoje infraestruturas que almeja e merece, quer no âmbito da saúde,

como no Hospital e Centros de Saúde, estes últimos estrategicamente disseminados pelo concelho, quer no setor social e na educação, em que se destaca a Universidade do Minho, as escolas básicas e secundárias, construídas de raiz ou reabilitadas, bem como no âmbito da cultura, desde logo com a edificação do Centro Cultural Vila Flor, instalação da Biblioteca Raul Brandão e inúmeras iniciativas culturais anuais que ainda se mantêm vivas, como o Guidance, o Guimarães Jazz, os Festivais Gil Vicente ou a Feira Afonsina, entre muitas outras. Iniciativas que se estenderiam ao desporto, como a instalação de piscinas no novo Quartel dos Bombeiros, ao apoio a infraestruturas desportivas diversas em várias coletividades e ao complexo desportivo da Pista Gémeos Castro, entre outras. E ainda aos espaços verdes e de lazer, como é evidente no Parque da Cidade.
Defendo, porém, que as principais conquistas foram a requalificação do Centro Histórico e a expansão ordenada da malha urbana, suburbana e das freguesias, que criariam novas urbanidades e vilas, que se traduziram numa maior coesão territorial, assim como a dinamização económica, nomeadamente no âmbito do turismo.
Ora, é este trabalho conjugado, ao qual não faltaram investimentos significativos nas acessibilidades, que guindaram a cidade e o concelho a níveis superiores, não obstante as dificuldades de percurso, que persiste e fica para os vindouros prosseguir. Trabalho que, é necessário afirmá-lo, acabaria por ser reconhecido com distinções muito concretas entre as quais se destacam em 2001 a classificação pela UNESCO do Centro Histórico de Guimarães como Património Mundial, que, em 2023, seria extensível à Zona de Couros, assim como com a contemplação de cidade organizadora do Euro-2004. Distinções e reconhecimentos que culminariam em 2012 com a designação de Guimarães – Capital Europeia da Cultura e logo no ano seguinte com a atribuição de cidade Europeia do Desporto.
Reconhecimento e homenagem que a nível pessoal gostaria também de agradecer, em especial com a atribuição da denominação “Nave António de Magalhães” ao espaço de emoções do Multiusos, aquando das comemorações dos 25 anos da Cooperativa Tempo Livre.
Mais foi um orgulho servir Guimarães que vai continuar o “D” de desenvolvimento de Abril, pois, como diz o slogan que todos conhecemos: “Guimarães não para…”.
O 25 de Abril e o poder autárquico (em Guimarães como no país)
Domingos Bragança, Presidente da Câmara Municipal de Guimarães


Os fundamentos do poder autárquico democrático radicam numa conquista de Abril - derrube de um regime totalitário – que abriu as portas à constituição do nosso regime democrático, logo, ao poder da territorialidade, da proximidade às pessoas, de quem conhece o chão que pisa porque habita nele, tem sentido de pertença e de identidade, tem rosto visível e conhecido, tem história e conteúdo substantivo e ético. É o poder autárquico que, mais do que qualquer outro, mobiliza a força e inteligência coletiva de uma comunidade.
A rutura com os municípios corporativos e a instalação de comissões administrativas42, nas câmaras municipais, consagrando-se um poder local democrático legitimado por eleições autárquicas (o que viria a acontecer, pela primeira vez, em dezembro de 1976), foi uma importante conquista do 25 de Abril. A nomeação de novos governadores civis e a destituição dos presidentes de câmara nomeados pretendeu efetuar um saneamento democrático das autarquias corporativas. Este foi um processo que decorreu entre maio e outubro de 1974, e que foi conduzido pelos Centros Populares e pela Junta de Salvação Nacional. Uma intenção prosseguida politicamente pelo ministro da Administração Interna do II Governo Provisório, o coronel Costa Brás, que, em 15 de outubro de 1974, prometeu “governar menos no Terreiro do Paço e mais nas Regiões” (Oliveira, 1996: 352). Era intenção do ministro reforçar os municípios do ponto de vista financeiro, “com vista a facilitar uma maior representatividade das populações em contraste com uma administração local fortemente centralizada pelo antigo Ministério do Interior” (Oliveira, 1996: 353).
O poder autárquico passa, assim, a estar ancorado em dois princípios: o da solidariedade e o da subsidiariedade. Quanto ao princípio da subsidiariedade, e passados 50 anos, ainda assistimos à sua inversão, ainda que tenham sido dados passos para a sua observância, o que, inevitavelmente, coloca em causa a
42 Em Guimarães, a Comissão Administrativa da Câmara Municipal toma posse, a 15 de maio de 1974, e fica encarregada de assumir responsabilidades administrativas até à realização de eleições democráticas. É constituída pelo presidente José Augusto da Silva e pelos vereadores Emílio de Abreu Ribeiro, António Ribeiro Martins, José Ferreira Lopes, Carlos Alberto Nave, Aristóteles do Nascimento e José Faria Martins Basto.

solidariedade como conquista de Abril. Este credo descentralizador, que já vem da monarquia absoluta, do liberalismo, da 1.ª República e do Estado Novo, fica muito além do desejado. É, pois, a herança do Estado como centro da sociedade muito pesada, motivo pelo qual, na Constituição da República promulgada pelo General Costa Gomes, em abril de 1976, se consagram as autarquias locais como “integrantes da organização democrática do Estado” (Oliveira, 1996: 354) e são definidas como “pessoas colectivas territoriais dotadas de órgãos representativos que visam a prossecução de interesses próprios das populações respectivas” (idem). Este articulado tem como objetivo privilegiar a autonomia das autarquias em detrimento de presidentes de câmara como meros magistrados administrativos que representam o Estado.
Como muitas vezes tenho dito no meu discurso público, é minha convicção que o local se afirme como núcleo produtor de sentido global, mas, para tal, é necessário que o processo decisório não se esgote nas instituições tradicionais do poder. Sendo o Poder Local uma das transformações com maior impacto do 25 de Abril, não deixa de ser a relação entre centro e periferia um tema controverso e, não raramente, gerador de tensões e olhares divergentes. Mas, recuando muito no tempo, importará lembrar que é o Município muito anterior à fundação da nacionalidade, e consequentemente à formação do Estado. E se assim é, será porventura uma forma de auto-organização lógica, próxima e eficaz. Quem melhor que o poder que reside numa área mais restrita de organização social para entender as aspirações e necessidades de uma comunidade? Como disse António Teixeira Fernandes, na comunicação que apresentou ao II Congresso Português de Sociologia, em fevereiro de 1992, “afirmando-se pela diferença, ainda que participando da mesma natureza de Estado, [o poder local] corresponderá a um outro modelo e fará actuar diferentes procedimentos”.
Mais do que falar da história do Poder Local em Guimarães, no pós-25 de Abril – porquanto essa tarefa levar-me-ia a um trabalho exaustivo de pesquisa histórica, com o risco de serem cometidas omissões –, procurarei fazer algumas reflexões sobre o que a autonomia dos Municípios pode gerar de substancial, e que terá estado, desde o fim do Estado Novo, nas intenções de uma nova e mais democrática organização político-administrativa do país. Como podem os Municípios tomar decisões que, ainda que condicionados por mecanismos de forma, possam traduzir-se em respostas céleres para os problemas das populações?
Reconhecendo as autarquias locais como estrutura fundamental para a gestão de serviços públicos numa dimensão de proximidade, a Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, estabelece o quadro da transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, em consagração do princípio

da subsidiariedade e numa lógica de descentralização administrativa como base da Reforma do Estado. Mas, este processo encerra um conjunto de implicações financeiras, organizacionais e humanas. Desde logo, evidencia-se a importância de transferência de verbas do Orçamento de Estado para as autarquias e de formação e necessidade de recursos humanos que as áreas da educação, saúde, ação social, transportes, cultura, habitação, proteção civil, do policiamento de proximidade, áreas portuárias e marítimas, cadastro rústico e gestão florestal fazem antever. E este é um problema que está longe de ser resolvido pelo poder central. Mas mais problemas se levantam. A descentralização não resolve os problemas se não tiver na sua base a essência do pensamento holístico, isto é, seja colocada em prática numa lógica de compreensão da interdependência e interligação entre os diversos elementos que compõem uma comunidade, e, a partir daí, na ligação com os territórios vizinhos que compartilhem uma mesma tipologia ou cenário cultural e ambiental, e até mesmo social e económico, salvaguardando-se a devida idiossincrasia muito particular (um caso bem atual desta necessidade holística de pensamento é a interligação do sistema de transportes entre municípios vizinhos).
Para que a transferência de competências do poder central para o poder local dite uma “nova ordem” que sustente um desenvolvimento local integrado e sustentável, entendo que devem ser observados diversos níveis de decisão estratégicos, que funcionem sempre que possível em complementaridade. A atual organização administrativa que divide Governo Central, Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, Comunidades Intermunicipais e Municípios tem todas as condições para garantir esse desejado desenvolvimento endógeno e solidário, numa organização de baixo para cima (bottom-up), que configura um cenário mais condicionado pela substância do que pela forma. Mas não haverá nenhuma organização administrativa que sobreviva a tensões que, no passado, foram criadas pelo apoio diferenciado da administração central às autarquias, ou das divergências em torno do Plano de Investimentos da Administração Central, nem tão pouco da aplicação não equitativa dos fundos estruturais provenientes da União Europeia. Estas foram sempre, desde o 25 de Abril, questões que levaram ao fracasso uma verdadeira autonomia das autarquias. Nem mesmo as tentativas de regionalização, ou, melhor dizendo, intenções, que alimentaram diversos governos desde 1979 até à data.
E como podemos transformar, pela nossa ação, o maior número de pessoas – e instituições –, envolvendo-as, tanto quanto possível, na decisão? Nas grandes decisões de fundo, que impactam significativamente a vida dos nossos concidadãos, parece-me importante a promoção de sessões de discussão pública e

de apresentação de projetos que tenham como objetivo a criação de uma esfera pública participativa. Talvez seja esta uma visão que possa ser entendida como poliárquica, que esvazie, ou minimize, a legitimidade democrática conferida pelo voto, mas procurar consensos ou, no mínimo, melhorar propostas, parece-me um passo certo em direção a um poder local mais democrático. Estaremos perante um conceito de governança que confere à multiplicidade de papéis que cada instância de poder representa uma importância negligenciável para entregar à forma a substância?
A governança não é território novo em Guimarães. É uma égide à qual recorremos e que nos permite envolver um vasto conjunto de atores. Refira-se, como exemplo, o Ecossistema de Governança Guimarães 2030, apoiado num quadro multidisciplinar que combina os domínios científico e técnico, a cidadania e, claro está, a dimensão política, um ecossistema que prepara o território vimaranense para os desafios ambientais do futuro. Este tipo de modelos pode ser decisivo para respostas aos desafios da sociedade do século XXI, incrementando-se a participação pública em soluções transformadoras do território, nas suas diversas dimensões: social, económica, cultural e ambiental. Se o 25 de Abril abriu portas para que o Poder Local pudesse emergir e libertar-se das amarras de um centralismo castrador, os sistemas de governança contribuem para o fomento de políticas sustentáveis que olham para o território de forma integrada, pugnando pelo compromisso de um vasto conjunto de atores, alterando o comportamento dos cidadãos e tornando-os parte de uma solução que a todos diz respeito.
Outra das formas de se “cumprir” Abril é através da criação de conselhos consultivos, foros eficazes para reunir um conjunto diversificado de ideias, experiências e visões, normalmente constituídos por especialistas em determinado campo de ação. É o que Guimarães faz em várias áreas, como no Investimento e Emprego, no Ambiente, na Juventude, na Educação e como fará no Turismo. É através destes espaços de participação cidadã que, não raramente, novas necessidades emergem, se estabelecem redes de cooperação, se firmam protocolos e se alavancam parcerias estratégicas que melhor prosseguem determinado tipo de objetivos.
Se é certo que as autarquias cumpriram bem as funções do Estado que lhes foram cometidas nos anos que se seguiram à Revolução de Abril, importará, agora, como níveis de decisão mais próximos das comunidades locais que são, assegurar que se estabeleçam novas prioridades e áreas de intervenção. Para tal, importará não cercear as políticas distributivas e caminhar rumo a uma maior autonomia que possibilite um modelo de desenvolvimento que atenue as notórias assimetrias que décadas de promessas não foram capazes de mitigar.


BIBLIOGRAFIA
Fernandes, A. T. (1992, Fevereiro). Poder Local e Democracia. II Congresso Português de Sociologia, Lisboa. Oliveira, C. (Dir.). (1996). História dos Municípios e do Poder Local. Lisboa. Temas e Debates.

José João Torrinha, Presidente da Assembleia Municipal de Guimarães
Esta intervenção começa sob a forma de uma confissão: de todos os discursos feitos por ocasião do 25 de abril, este foi o que me foi mais difícil de começar a escrever. A dificuldade não tem a ver com o número de anos que comemoramos, pois que a efeméride redonda que hoje se completa em nada acrescenta à responsabilidade da tarefa. Também não resulta da sua repetição, já que o tema é tão rico que não existe sequer o risco de repisarmos caminhos já trilhados.
A dificuldade advém sim do facto de, no momento atual, em Portugal e no mundo, termos de lutar contra muitas coisas, mas acima de tudo contra o nosso próprio desânimo. Este pode bem ser um problema geracional. Para quem nasceu por alturas da nossa revolução, vivemos tempos que interpelam algumas crenças que nos acompanharam nos anos em que formamos a nossa personalidade.

Filhos de quem viveu nos longos anos da ditadura, crescemos em plena guerra fria, cujo fim assistimos sob a promessa de que a democratização era um processo tão belo como inevitável. Se para alguns o século XX terminou com a queda do muro, mas o XXI só se iniciou com o ataque às torres gémeas, naquele limbo entre as duas datas, como lhe chamou Pedro Mexia, vivemos
43 Intervenção proferida na sessão solene da Assembleia Municipal comemorativa do 25 de Abril de 1974.

na ilusão de que o processo histórico era uma caminhada imparável rumo a dias melhores.
Os últimos anos dedicaram-se a ir dando sucessivos golpes nessa ilusão, empurrando-nos para reflexões mais pessimistas. Um pouco por todo o mundo vamos assistindo a inesperados retrocessos civilizacionais, ao recrudescimento de sentimentos que julgávamos ultrapassados, ao ressurgimento de ideologias que pensávamos definitivamente confinadas aos livros de história, tudo condimentado com a guerra de volta à Europa. Se a civilização é como uma camada fina de gelo sob um fundo oceano de caos e trevas, como diz Werner Herzog, será que tínhamos vivido apenas um momento anormalmente feliz da humanidade e nos apressamos para regressar ao velho e tenebroso normal?
É verdade que a geração de que falo não viveu a ditadura, mas foi como se tivesse vivido, pois que bebeu avidamente dos seus pais os tempos exaltantes da luta pela liberdade e do processo de consolidação da nossa democracia. É por isso particularmente penoso constatar que, volvidos cinquenta anos, haja muitos para quem tudo o que foi conquistado possa ser posto em causa num abrir fechar de olhos.
Haverá muitas explicações para estes tempos que vivemos, em Portugal e no mundo. Esse é um debate na ordem do dia, nesta época que alguns denominaram de “era do tédio”. Um tempo em que, do alto do conforto de uma sociedade que, apesar dos seus múltiplos problemas, vive comparativamente tempos melhores do que aqueles que vê no retrovisor, e que por isso se pode dar ao luxo de responder ao aborrecimento com gestos que se arriscam a pôr tudo em causa.
Pior. Esses gestos são vistos por muitos outros com uma preocupante indiferença. Este é um tempo em que é efetivamente fácil, demasiado fácil, ceder a essa indiferença. Indiferença ao padecimento causado ao nosso próximo, indiferença aos perigos que nos rodeiam e indiferença relativamente a todos os que não professam as nossas ideias.
Ora, este não é o tempo de ceder a essa inação. Pelo contrário: esta é a altura de agir vigorosamente em defesa do que nos é mais caro: a democracia e a liberdade conquistada a duras penas.
Nessa extraordinária alegoria que é o romance, “A Peste”, tão atual que parece ter sido escrita ontem, Camus resumia as atitudes perante os perigos de que falava: há quem lute; quem fuja; quem atue individualmente; quem lucre; mas sobra a maioria que opta pela indiferença.
Ora, a indiferença é um luxo a que não nos podemos dar.
Se o fascismo que caiu a 25 de abril de 1974 representa, na sua raiz, o medo da liberdade, não podemos recear o combate contra todos aqueles que tentam reeditar esse medo, paradoxalmente e muitas vezes sob

a bandeira da própria liberdade.
Liberdade: eis um conceito que também pode ser destruído pelo seu abastardamento. Porque é verdade que, nos dias de hoje, em muitos discursos se usa e abusa dessa palavra para promover algo bem diferente: o individualismo. Mesmo figuras insuspeitas como o Papa Bento XVI o reconheceram quando alertava para o perigo de erigirmos como critério supremo para as nossas ações o indivíduo e os seus desejos. “Sob a aparência da liberdade, construímos uma prisão para cada um, que separa as pessoas umas das outras fechando cada um de nós dentro do seu próprio ego”, disse ele.
Liberdade não é isso. Liberdade não é, não pode ser egoísmo. ”O egoísmo pessoal, o comodismo, a falta de generosidade, as pequenas cobardias do quotidiano, tudo isto contribui para essa perniciosa forma de cegueira mental que consiste em estar no mundo e não ver o mundo, ou só ver dele o que, em cada momento, for suscetível de servir os nossos interesses”, uma frase que adoraria ter escrito, mas que foi brilhantemente imaginada por José Saramago.
Liberdade não pode ser confundida com uma forma de estar na vida em que eu me preocupo apenas comigo e com os meus interesses. Uma sociedade em que todos vivem numa corrida desenfreada e a solo, procurando ultrapassar o vizinho na próxima curva, não é uma sociedade verdadeiramente livre, ao contrário do que possa parecer. Uma sociedade que erige a meritocracia como uma espécie de novo Deus a venerar por todos não é uma sociedade justa e por isso não é verdadeiramente livre.
Não é justa porque ignora a própria condição de partida de cada um de nós, todos iguais em direitos, mas diferentes nas capacidades inatas ou adquiridas ao longo de uma vida, ela própria pejada de desigualdade. A crença nessa meritocracia perfeita cega-nos no entendimento de que fazemos parte de um destino comum e “deixa pouco espaço para a solidariedade que pode advir da reflexão sobre a aleatoriedade dos nossos talentos e da nossa fortuna. É isso que faz com que o mérito seja uma espécie de tirania ou de regime injusto”, como escreveu Michael Sandel.
Uma sociedade assim, acaba por fazer os pobres acreditarem que a sua condição é só e apenas culpa sua, quando bem sabemos que não é assim, sendo que, paradoxalmente essa sua consciência acaba por leválos à defesa de propostas que, no final do dia, apenas beneficiam os que mais têm e pouco ou mesmo nada os ajudam.
Minhas senhoras e meus senhores.
Comemorar Abril é celebrar aqueles que não se resignaram. É festejar homens e mulheres que antes de

pensarem em si, pensaram nos outros. Arriscando tudo. O seu emprego, a sua liberdade ou até a sua própria vida.
Se eles não se resignaram, que direito temos nós à indiferença e ao tédio de que falávamos? A resposta é simples: não temos esse direito. Isto se nos queremos mesmo identificar como democratas, como cidadãos de corpo inteiro que se preocupam com o bem-estar do seu próximo e que acreditam que é numa sociedade livre, justa, que não deixa ninguém para trás que querem viver.
A luta por esses ideais está mais viva do que nunca e ninguém está autorizado a virar-lhe a cara.
Nos festejos dos cinquenta anos do 25 de abril cabem as palestras, as homenagens, os documentários, as exposições, as sessões solenes, os desfiles, a festa. Mas aquele ato primordial de não ceder um milímetro aos que querem questionar os valores conquistados da solidariedade, da democracia e da liberdade, de todas as liberdades conquistadas, vale mais do que todas as proclamações.
Defender abril, 50 anos depois, é sacudir o pessimismo, arregaçar as mangas e estar na linha da frente na defesa do seu legado. E se assim é, terminar este discurso é muito mais fácil do que começa-lo, pois que ao desânimo e à descrença respondemos com alegria e determinação. Porque, como dizia Martin Luther King Jr. "a nossa própria sobrevivência depende da nossa capacidade de estarmos acordados, de nos ajustarmos a novas ideias, de permanecermos vigilantes e de enfrentarmos o desafio da mudança”.
Viva o 25 de abril.
Viva a democracia.
Viva a liberdade.


Liberdade no Feminino
Adelina Paula Pinto, Vice-presidente da Câmara Municipal de Guimarães
Não consigo falar dos 50 anos do 25 de abril, sem falar no meu percurso de vida e na vida de muitas mulheres.
Sou, à data que escrevo, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Guimarães e sou a primeira mulher que ocupa este cargo. A liberdade, a igualdade de género, a igualdade de oportunidades, são todas ideias de abril, ideias gritadas a plenos pulmões pelos revoltosos e por uma população eufórica e desejosa do fim da ditadura e da miséria.
À sempre presente questão do “Onde estavas no 25 de abril?”, leva-me a lembranças felizes e a preocupações e consciencialização do ponto onde chegamos. O dia 25 de abril de 1974 inscreve-se, na minha memória, como um dia muito feliz. Andava na 4.ª classe, numa turma feminina, em Polvoreira. Uma escola com uma única sala que ficava por cima de uma casa particular. Não tinha casa de banho, apenas um buraco e brincávamos na rua! Dentro da sala, como habitual, o quadro de Marcelo Caetano e de Américo Tomás bem como o Crucifixo traziam o temor e a ordem para dentro da sala. Uma magnífica professora, de régua na mão, ensinava e preparava-nos para o exame. À frente, as meninas mais limpinhas, melhores alunas; atrás as repetentes, as malcheirosas, as marginalizadas. Não havia funcionários e todas as semanas, penso que à 6.ª feira, eram as alunas que limpavam a sala, esfregavam o chão e colocavam cera.
Esta era uma escola típica daquela época, as mesas ocupadas na escola refletiam a estratificação social a que assistíamos. À data eu era feliz, não tinha essa consciência, sentava-me à frente, era boa aluna e limpinha! O orgulho da minha mãe era uma bata branca, com peguinhas e a apertar atrás, imaculadamente limpa e passada a ferro! O facto de ser boa aluna e ter um ar cuidado e limpo dava-me um estatuto diferente, eu era a “Paulinha”, Petit nom que ainda hoje me idêntica na freguesia.
Mas o que mais me marcou e aí já com forte consciência é que, na passagem para o 2.º ciclo, na altura o Ciclo Preparatório, que funcionava em Santa Clara, hoje Câmara Municipal, só fomos duas meninas. Lembro-me como se fosse hoje de ir sozinha no autocarro, de não conhecer ninguém naquele grande edifício, do

toque de feriado que eu não sabia o que era.
O mais assustador, que ainda hoje se paga, é que mais de vinte meninas, com dez anos ou pouco mais, deixaram de estudar e foram trabalhar, a maioria para as empresas têxteis que grassavam na região.
E este é este o ponto onde eu quero chegar. Eu sou o resultado de abril, foi a revolução que me permitiu ter igualdade de oportunidades, que me permitiu chegar onde estou. Mas o que fez abril pelas minhas vinte colegas que foram trabalhar? Onde estão elas? Que vidas têm? Que ganharam com abril?
Abril é a grande referência da minha vida, os seus ideais são os meus, luto todos os dias para que se efetivem verdadeiramente todas as suas promessas, sou imensamente grata àqueles corajosos militares que, com risco de vida, fizeram esta linda revolução. Esta gratidão consubstancia-se em ações que me permitam efetivar esta igualdade, na educação, na cultura, nos acessos, na participação de todos (que tanto promovo nas escolas).
Mas estes processos revolucionários levam décadas entre as ideias e a capacidade de as colocar em prática. Em Guimarães, como em todo o país, assumiu-se abril, a igualdade da mulher e a importância do poder local.
Hoje, cinquenta anos depois, temos um poder local forte, consciente do seu lugar e da importância que os seus atores tiveram no desenvolvimento duma cidade verdadeiramente democrática e para todos. Hoje, até temos uma Vice-Presidente que é mulher, hoje até temos mais sucesso nas meninas na escola e na universidade, hoje já temos mulheres em todos os quadrantes políticos, empresariais, científicos e sociais.
Mas estará tudo conseguido? As mulheres que tanto lutaram pela igualdade, estarão satisfeitas? Como não temos ainda o mesmo número de mulheres em lugares de topo? Por que é que as mulheres têm sempre de dar mais provas em todos os lugares que ocupam? E a família? E o ser mãe?
Entre uma lei que nos diz que nós temos igualdade de oportunidades e uma cultura judaico cristã que nos ensinou que temos de cuidar da família, garantir uma casa em condições e cuidar dos filhos, as mulheres, cinquenta anos depois do 25 de abril, vivem ainda com um espartilho muito forte e muito estrangulador: mas está a mudar! Homens cuidem-se! A verdadeira revolução feminina está a acontecer!


Abril hoje e sempre
António Mota-Prego
O que são 50 anos na vida de uma pessoa?
O que são 50 anos na vida de uma democracia?
Meio século é muito mais que metade da previsível existência de um ser humano e, quanto à democracia, um permanente labor para a sua permanência e aperfeiçoamento em cada um meio século do porvir.
Dos 30 anos que eu levava de vida num Portugal em ditadura, mais de 15 foram-no já na consciência do cinzentismo português, consciência tanto mais nítida e completa quanto ia progredindo em idade, percebendo cada vez mais e melhor a tristeza, a angústia, o temor que, no rosto de um Portugal folcloricamente sorridente, se detetavam à transparência dos olhares por onde se chega à alma de um povo.
Os privilegiados da minha geração frequentávamos o último ano dos estudos secundários ou dos estudos profissionais, os menos afortunados e o duro labor profissional, os sem privilégio nem fortuna, quando todos nos deparámos com uma guerra em longínquas e quentes terras de África, para a qual foram convocados e compelidos membros de todas as famílias portuguesas.
Para além de tristeza, angústia e temor, Portugal cobrira-se também de luto.
O regime, que há 50 anos atrás, levava 48 de duração, assentava em silenciamento que muitos não suportaram e dificilmente suportaram os restantes; e só conseguiu perdurar escorado em violências e torturas que tantos heroicamente sofreram, sem cederem aos desígnios que deles pretendiam os autores das sevícias físicas, morais e económicas que lhes foram infligidas, só porque expressaram o desejo de liberdade individual e coletiva, desta liberdade que nos permite, hoje, a expressão do amor que lhe devemos.
Os autores materiais de tais sevícias têm nomes que se vão confundindo com a poeira da História; mas aos seus autores morais, seria impróprio omiti-lo neste tempo em que a lembrança é mais necessária que nunca, têm nome gravado na memória do Tempo, e mencioná-lo é uma obrigação: António Salazar e Marcelo Caetano.
Tenho o privilégio de ter sobrevivido, e ter sobrevivido sem dano de que me aperceba, à prisão, à sevícia,

à guerra e, além desse, o de me contar entre os que tiveram a felicidade ímpar de viver o mais límpido, exaltante, florido e irrepetível dia 25, no Abril de há 50 anos.
Lembro todos quantos ansiaram esse dia e não tiveram vida que os levasse até ele.
Celebro os que desbravaram o caminho que haveria de ter por meta a irrupção da liberdade até então encarcerada.
Honro todos quantos puseram a vida em risco e quantos a perderam para que tal dia se cumprisse.
Exorto a que se vele por essa liberdade tão sofridamente alcançada, pois que, mesmo quando imperfeita, é sempre passível de ser aperfeiçoada e sempre, mas sempre, um bem ao qual nenhuma tirania, ditadura, ou autocracia, por mais perfeita que seja, poderá comparar-se; e tão menos se comparará quanto mais perfeita qualquer destas for.
Abril foi há 50 anos, é hoje e terá que ser, sempre, no futuro, porque no dia em que deixasse de o ser, pereceria a alma do povo que o plantou.


Depois, ... 25 de Abril
Óscar Jordão Pires
Data que se justifica pelo que a antecedeu. E isso foi a ditadura, cuja figura de proa e quase exclusivo réu sentenciado popularmente por todos os malefícios infligidos à sociedade portuguesa durante dezenas de anos, foi o seminarista de Santa Comba Dão e freguesia do Vimieiro, estudante do C.A.D.C. e, na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, professor nela, ministro e presidente do conselho dos mesmos. Da corte que o servia, apaniguados, beneficiados, torcionários, pides, legionários e calados, como soía inquirirse nos processos crimes quanto aos costumes, nada consta. Passados tantos anos, cinquenta e tal, portanto, se vivos alguns daqueles, deixemo-los com o peso das suas consciências, se a tiverem, enquanto se festeja o dia em que esse edifício, já em adiantada fase de ruína, foi demolido.
Ora, esse dia foi o 25 de Abril de 1974.
Ora, também, durante aquele período de míseros, mesquinhos e brumosos horizontes para a maioria, houve quem aspirasse à claridade. Quem, correndo perigos da mais diversa ordem, renunciasse à possível vida de sem tropeços que era facultada à carneirada submetida, apostando no acender duma luz no fim de um túnel que se ia prolongando, prolongando. Esses, e por bem mais de quarenta anos, foram quem ajudou a levantar a casa que, nesta assinalada data, abriu a sua porta e parturiu a possibilidade de uma sociedade mais progressista.
Quem, porém, se recorda desses como que “inexistentes”? Quem lhes evoca a memória?
Parece que muito pouca gente. E na impossibilidade de a todos os enumerar, quer pela sua vastidão, quer pela diversidade de contribuições (excluindo as dos vira casacas e, por vezes, depois, delatores), quer, ainda, pela extensão desse longo decorrer, ressuscitemos, nas pessoas dalguns mais em evidência, o nome de um que, nos vários concelhos desse então distrito de Braga, se poderiam considerar bastante notórios. E sem que isso signifique qualquer desprestígio para os não nomeados, ou apoucamento da sua contribuição. Distingamos, também, a oposição estruturada e clandestina (o Partido, como então era designado), dos que contactavam com ela e tinham alguma incipiente organização, mormente na ocasião de eleições e, a seguir,

todos os restantes, que eram a maioria e emergiam apenas em ocasiões bem determinadas. Isto porque, como deve ser sabido, a envolvência política fora da área do regime tinha riscos distintos para essas três categorias. Assim e começando pelo inverso da sua enumeração, dir-se-á que o último grupo, além de poder ter ficha na polícia política, o que já limitava os parcos direitos cívicos então concedidos, podia ainda deparar com interferências na sua vida profissional, nomeadamente em cargos públicos. No segundo, além da mais acentuada, e penosa, intervenção a que os anteriores estavam sujeitos, acrescia a vigilância e até a intervenção da polícia política, com eventuais apreensões de objectos, detenções e, nalguns casos, imputações criminais e posterior julgamento em tribunais especiais. E, no primeiro, aí a porca torcia o rabo, pois quando detectados e apanhados, eram arrastados para os calabouços da polícia política, maltratados, torturados, imputados criminalmente, sentenciados a penas e medidas de segurança que, muitas vezes, excediam os prazos decretados e, até e enquanto nela, privados de assistência médica capaz (como no caso do Guilherme da Costa Carvalho, a quem adiante se fará referência) e, inclusiva e finalmente, assassinados.
Sobre todos eles, porém, pendia o receio. Até pela enorme legião de anónimos informadores (os, digamos, arregimentados e os ocasionais), imiscuídos nos meios em que se podia desenvolver oposição. E, claro, as denúncias caluniosas. Enfim, um viver em permanente tensão, de espada sobre a cabeça, até porque nunca se sabia se o conhecido ou companheiro com quem se falava, o falso amigo, ou o vizinho e até pessoas chegadas, eram de confiança ou bufos. Tempos, por conseguinte, de má memória para os que estiveram envolvidos nas chamadas actividades subversivas e também para a generalidade do povo, pelas condições de vida que tinha que suportar e que, aqui, na sua alguma veracidade, se resume, entre muitas outras afrontas, àquele chiste irónico de que uma sardinha, numa refeição, dava para várias pessoas. Foram eles, pois, esses subversivos e a complementar evolução da situação internacional que foi isolando a ditadura (contribuindo essa evolução, também, para a elucidação política), quem manteve a pira revolucionária duma ansiada democracia. Eles que, de risco em risco, foram denunciando atropelos e fomentando a luta ideológica, alargando a sua influência e, aproveitando oportunidades ou tímidas aberturas irem criando incipientes estruturas quando, e sempre que, tal era possível (recordem-se os Congressos Democráticos I e II, os jantares do 5 de Outubro, etc.). Nessa luta pela obtenção dos direitos cívicos fundamentais, veio, a partir de dos anos sessenta, juntar-se as dos povos das colónias (após a humilhação do despejo dos enclaves indianos), as subsequentes guerras coloniais e o beco em que acabaram por se transformar, o que, no seu conjunto, foi acentuando o descontentamento (sendo de lembrar que a maioria dos graduados não

eram militares de carreira, ocorrendo, assim, uma significativa percentagem de milicianos provindos de estudos superiores, onde grassava já uma politização crescente e de oposição, como os movimentos do início dos anos 60 e a sua continuidade ajudam a demonstrar - como aquele cartaz duma latada em Coimbra que dizia Angola é nossa, empunhado por um preto). Anteriormente, as eleições de 1957 e o terremoto das de 1958, para depois e quase a finalizar, acontecer Aveiro. A lavoura estava feita e cada vez mais parecia eminente a estucada de misericórdia à moribunda. E assim, depois do frustrado golpe das Caldas, deu-se o parto da liberdade a 25 de Abril.
Foi, porém, esse caudal de subversivos, obrigados a actividades mais que sigilosas por a sua própria natureza e, por isso mesmo, difíceis de escalpelizar, de listar e memorar, quem ao longo de dezenas de anos manteve viva a ideia democrática e tentou, no que lhe foi possível, concretizá-la. Só que a História é feita por factos conhecidos, documentalmente comprováveis e tudo o que não tem esse sustentáculo desfaz-se no limbo de não ter sido. Mas ainda subsistem provas para sabê-lo, maioritariamente escritos e papeis assinados, ou as fichas da polícia política e processos judiciais, que, devidamente analisados e divulgados, podem fazer luz sobre esse período tão negro e que jaz obliterado. É certo que a partir da campanha de Humberto Delgado surgiu muita gente nova; gente que, quase toda, chegou a Abril de 1974. E só essa, parece, ficou para a História.
Quem, pois, se lembra do velho Dr. Torres, de Barcelos, do Major Miguel Ferreira, de Fafe, do Guilherme Branco, de Braga, do Marinho Dias, de Celorico de Basto, do Pinheiro Braga, de Famalicão, do Tinoco de Faria, da Póvoa de Lanhoso, do Manuel Cunha, de Riba d’Ave, ou do Zé Guilherme, do Arco de Baúlhe. E por cá do Pinto Rodrigues (Francisco). No entanto, este e por muitos anos, nacional e regionalmente, era nesta cidade a referência da oposição visível. O seu escritório, ali na rua Gravador Molarinho, ou as mesas mais descomprometidas do Café Oriental, ou do Mourão, eram lugares onde, mais ou menos veladamente, se falava de assuntos políticos; e, sobretudo, no primeiro, se fazia alguma política (na lembrança daquele homem - o já referido Costa Carvalho, de boina e de quem nada se sabia, mas que aparecia por lá esporadicamente). Por esses tempos, portanto, por cá e para quase todas as actividades travadas pela oposição admitida, ele, o Xico Rodrigues, era o centro onde elas convergiam; na lembrança de que foi em sua casa que se fundiram as candidaturas locais do Arlindo Vicente e do Humberto Delgado. Entretanto, como já se referiu, após 1958, começou uma nova etapa e um rejuvenescimento na oposição que, na sua maioria e como igualmente se disse, nela estava em 25 de Abril de 1974.
Mário Soares: o fundador da democraciaNo centenário do seu nascimento
Raul Rocha


Mário Soares nasceu em 1924, na Rua Gomes Freire, no centro de Lisboa. Ainda nos tempos da 1.ª República, da qual seu pai, João Lopes Soares, foi destacado político, com cargos de Governador Civil em dois distritos: Leiria (de onde era natural) e Guarda.
A queda da República, em 28 de maio de 1926, ocorre quando Mário Soares tinha 2 anos de idade. A “guerra civil” atravessa o país entre 1926 e 1933, e, neste último ano, Salazar aprova a Constituição de 1933 e estabiliza o regime. Soares vive essa “guerra” com o pai, quase sempre fora de casa, a conspirar para restabelecer a república.
É assim, no ambiente do “reviralho”, de um profundo saudosismo republicano e anticlerical, só compensado porque a mãe era católica, que Soares começa a acompanhar e a conhecer a vida e a política com uma presença constante.
O pai funda o Colégio Moderno, como sustento da família, onde Soares estuda e tem como professores quase só opositores de Salazar porque era exatamente nos colégios privados que estes podiam lecionar, excluídos que estavam do ensino público. Tem três professores que muito o influenciam: Agostinho da Silva, Álvaro Salema e… Álvaro Cunhal (prefeito do colégio) quando não estava preso.
O primeiro PS, fundado nos ideais de Antero de Quental, tinha desaparecido com a queda da república.
O único partido fundado na década de 1920 e que, pela sua fundação recente, sobreviveu, foi o PCP. Era inevitável que Soares, sedento de militar na política, se iniciasse no PCP.
Mas, Soares admite que, em 1942, quando entra na Faculdade de Letras para cursar Filosofia, ainda não era comunista. Conheceu, então, Guilherme da Costa Carvalho, de Ciências, e Jorge Braga de Macedo, dirigentes estudantis comunistas; vive-se a guerra, a URSS resiste heroicamente à invasão nazi alemã, epopeia que entusiasmou todos os comunistas e antifascistas e Soares adere ao PCP em 1943. Justifica que havia a ideia que a grande aliança anglo americana e a Rússia iria combater a favor da democracia e a URSS não regressaria às purgas anteriores.

Soares milita, dirige, organiza o MUNAF, o MUD, a juventude comunista, as manifestações a favor dos aliados, toda a ilusão de que, no final da guerra, viria a democracia. É assim que assume as funções de secretário executivo da campanha de Norton de Matos à presidência da república, em 1949, com 25 anos. O General, com mais de 80 anos, tinha sido Ministro na República e Governador Geral de Angola e defendia o republicanismo anticomunista. Soares omite ao General ser militante do PCP, pois considera que Norton não aceitaria, mas o PCP impõe-lhe que assumisse junto do General essa militância. Obedece, mas contrariado.
O candidato retira-lhe as funções e não lhe fala mais. Começa, aí, embora ainda vá demorar anos, o afastamento de Soares do PCP.
É nessa sequência de vivências que cria as primeiras ligações que vão consolidar uma corrente socialista não comunista, na oposição democrática portuguesa. Soares é acompanhado pelo seu grande amigo Salgado Zenha que conhecera nos anos da guerra como presidente da AAC (Associação Académica de Coimbra) e no MUD juvenil, mas, sobretudo, por democratas mais velhos da geração do pai: Mário Azevedo Gomes, António Sérgio, Jaime Cortesão, Gustavo Soromenho, Abranches Ferrão, Magalhães Godinho, Manuel Mendes, Tito de Morais, Ramos da Costa, Adão e Silva (avô do recente Ministro da Cultura).
Acaba preso no Aljube, onde casa com Maria Barroso, atriz de teatro, colega de letras e militante política. O casal constitui uma forte relação política/afetiva que ajudou decisivamente à intervenção que, 25 anos mais tarde, vai ser a fundação da democracia, em 25 de abril de 1974.
Os anos 1950 são uma certa “travessia no deserto” para Mário Soares. Após a rutura com o PCP, sentese isolado. Tinha-se licenciado na década anterior, em Filosofia, e resolve ir frequentar Direito. Esteve afastado, pelo menos da primeira linha, daquela que vai ser a principal campanha da oposição democrática nos 48 anos da ditadura, a campanha de Humberto Delgado. Mais tarde vai ser o advogado da família, após o assassinato de Delgado pela PIDE, nos anos 1960.
A reflexão que faz nesses anos é muito influenciada pela política francesa. O “France Observateur” é a leitura de referência. Pierre Mendès France, que foi por pouco tempo primeiro-ministro de França, é o exemplo a seguir. Após a licenciatura em direito e o estágio de advocacia começa a advogar, mas ocupa-se mais da defesa gratuita de presos políticos como sucedeu com Octávio Pato, dirigente comunista e seu antigo colega da direção do MUD juvenil.
É numa visita a Delgado, exilado em Praga, que conhece o mundo de influência soviética, que lhe deixa uma impressão profundamente negativa, e o determina para criar uma alternativa democrática ao fascismo,

mas também ao PCP, dez anos antes do 25 de abril.
Mas tem concorrência mesmo fora do PCP. A crise estudantil de 1962 revelara uma nova geração (Jorge Sampaio e Medeiros Ferreira) que disputa o mesmo espaço e que, em 1974, está na origem do MES (Movimento da Esquerda socialista).
A criação da CEE (Comunidade Económica Europeia) com o Tratado de Roma, em 1957, a guerra colonial em África, iniciada em 1961, são elementos que vão mudar a tradicional luta pelas liberdades que formara o primeiro pensamento político de Soares. Os anos de 60 do século passado, onde ocorre o “golpe de Beja”, tentativa falhada de intervenção militar antifascista na noite de 31 de dezembro de 1961, até à queda de Salazar, nomeação de Marcelo Caetano que aceita que Soares regresse de S. Tomé, onde Salazar o exilara, as “eleições” para a assembleia nacional de 1969, onde, mesmo no regime, surge a “ala liberal” de Sá Carneiro que se quer inspirar na social-democracia do SPD alemão, foram tudo acontecimentos que anteciparam o 25 de abril.
Soares escreve o “Portugal Amordaçado”, funda a ASP (Ação Socialista), em 1964, é aceite na “Internacional Socialista”, em 1972, e, em 1973, a ASP transforma-se no PS.
A decisão de criar um partido na clandestinidade não foi pacífica. Não existia implantação de norte a sul, apenas em Lisboa e numa ou outra cidade: Leiria (Vasco da Gama Fernandes), Alenquer (Teófilo Carvalho dos Santos), ambos futuros presidentes da assembleia da república. No Porto, não excedia um grupo de advogados: António Macedo, Cal Brandão, José Luís Nunes, Rui Polónio Sampaio. Em Guimarães, não existia um único membro do PS. No distrito de Braga, Francisco Tinoco de Faria, advogado da Póvoa de Lanhoso, é o único fundador.
Talvez, por isso, no Congresso fundador da Alemanha, a delegação do interior, incluindo Maria Barroso, vota contra. Soares e os restantes exilados (a maioria) votam a favor. Um partido teria apoios internacionais.
A Europa era o desígnio de Soares.
Um ano depois, ocorre o 25 de abril. O PS é o jornal “República”, com assinantes em todo o país, e pouco mais. A única organização oposicionista implantada, com concelhias e distritais, é o MDP/CDE. Fortemente ancorada na classe média com professores, advogados, pequenos empresários e poucas ligações operárias. Na clandestinidade, nos sindicatos, nas associações de estudantes, havia uma forte organização do PCP que liderava, sem o assumir, o MDP/CDE. É excessivo pensar que o PCP estava em todo o país. Só em Lisboa, margem sul, Alentejo, em algumas cinturas do Porto, Coimbra, Aveiro. Em Braga, e em Guimarães, para além

do Sindicato têxtil, liderado por João Ribeiro, operário da Coelima, de Riba d’Ave, o PCP era inexistente.
As primeiras comissões administrativas municipais foram nomeadas pelo MDP/CDE, em todo o país.
Soares apareceu na televisão aos olhos dos portugueses, que não o conheciam, como não conheciam Cunhal, nomeado Ministro dos Negócios Estrangeiros, a percorrer a Europa como porta-voz do novo regime. Os portugueses tinham uma forte ligação à Europa por via de centenas de milhares de emigrantes. A Europa, mais que a liberdade, era a prosperidade, com melhores salários. O sonho europeu cresce rápido, Soares é o rosto da Europa em Portugal.
Algum radicalismo comum em todas as revoluções conduziu ao afastamento do primeiro poder instalado, o “gonçalvismo” do primeiro-ministro Vasco Gonçalves, militar, ligado ao PCP. Os partidos da direita, PSD e CDS, apareceram como “chapéu de chuva” de quadros ligados ao anterior regime, ou pelo menos à imagem dos anteriores poderes, o que levou a que o português comum, mais pobre, despolitizado, tivesse escolhido o PS como o seu partido, rejeitando os privilégios da direita e afastando a esquerda comunista vista como mais radical.
O PS foi-se formando em todo o país, criando secções concelhias e distritais, vindas do nada. Cidadãos comuns, ávidos de intervenção, despolitizados, sem formação académica, acorreram às sedes do PS e inscreveram-se como militantes. Mota Prego, jovem advogado com 30 anos, que até 1974 militara no MDP/CDE, foi ao Porto procurar António Macedo, porque queria criar o PS em Guimarães. Regressou com uma bandeira e uma caixa de fichas para inscrições.
O primeiro comício do PS, em Guimarães, ainda é sem Soares. Foi em 7 de junho de 1974, um mês e meio depois do 25 de abril, no Cinema S. Mamede. De


Guimarães: Mota Prego, Lopes Pinto, Oliveira Rodrigues. Lopes Pinto foi um operário indicado a Mota Prego para falar. A esquerda queria ser “obreirista”. Do Porto: Cal Brandão, Elísio Bento Amorim, José Luís Nunes. De Braga: Artur Cunha Coelho. De Lisboa: Nuno Godinho de Matos. Quase todos eram advogados.
É na campanha para a Constituinte de 1975 que Soares vem como líder político, pela primeira vez, a Guimarães. Tem multidões à espera. Não se conhecem uns aos outros. Em 13 de abril de 1975, discursa da varanda do “Virabar”, na Alameda; em 21 de abril, no comício, no Teatro Jordão. O PS vence essas primeiras eleições, em Guimarães. Recolhe próximo dos 30000 votos. São eleitos deputados por Guimarães Mota Prego e Oliveira Rodrigues, metalúrgico da ALFA. Em 1976, para a primeira assembleia da república, o PS reforça e são eleitos Oliveira Rodrigues e António Magalhães. Em dezembro desse mesmo ano de 1976, o PS ganha a primeira presidência da câmara, mas só com 17000 votos, face à pouca notoriedade dos candidatos e frágil organização nas freguesias. Muitos futuros socialistas organizaram listas independentes porque nada conheciam fora das suas freguesias.
Como conseguiu o PS ser o maior partido nacional com uma distribuição de votos por todo o país, quando a direita só aparecia no norte rural, conservador e clerical, e o PCP no Sul mais urbano com maiores concentrações industriais?
Esta simpatia espontânea e popular é indissociável de Mário Soares, quando muito da dupla “Soares e Zenha, não há quem os detenha”. As qualidades de comunicação de Mário Soares, as suas empatias explicam, mas o programa político “A Europa connosco” terá sido determinante.
A partir da primeira assembleia da república eleita, em 25 de abril de 1976, Mário Soares foi PrimeiroMinistro. Sem maiorias, os seus governos foram atribulados, com coligações com o CDS em 1978 e com o PSD em 1983. Como principais marcas ficaram o SNS (Serviço Nacional de Saúde), a adesão à União Europeia, a consolidação democrática e a autonomia do poder local. O SNS acabou com o drama de começar cedo a guardar dinheiro para quando uma doença viesse. A integração europeia infraestruturou o país e tornou Lisboa, Porto, hoje Guimarães, cidades cosmopolitas, do primeiro mundo. O poder local deu-nos o direito de governar as nossas comunidades, do município às freguesias. Antes, os presidentes de câmara eram nomeados por Lisboa.
Em 1986, Soares foi eleito presidente da república, na eleição mais disputada de sempre com Freitas do Amaral. Toda a esquerda votou Soares, toda a direita votou Freitas do Amaral. O país dividido ao meio.
Por pouco tempo, pois Soares, no dia seguinte às eleições, afirmou-se “Presidente de todos os

portugueses” e construiu a unidade de todos os quadrantes. Para tal, muito contribuíram as “presidências abertas”.
A primeira foi em Guimarães, em setembro de 1986, onde assinou a promulgação da Lei de Bases do Sistema Educativo, que ainda se mantém. Era já Primeiro-Ministro Cavaco Silva e Presidente da Câmara António Xavier, do PSD. O Ministro da Administração Interna era Eurico de Melo, figura da terra, tendo sido Soares bem recebido pela direita local e com todas as honras. Assim sucedeu em todas as “presidências abertas”.
Na sua segunda eleição, Soares quase não teve oposição. Era o Presidente de todos os portugueses. Cavaco Silva apoiou. Soares ganhou com mais de 70% de votos. O segundo mandato foi mais controverso. Houve “presidências abertas” a denunciar a insensibilidade social dos governos de Cavaco, mais virados para o betão com os dinheiros da UE. Cavaco que tinha sido crítico da integração europeia, tornara-se o “melhor aluno” da Europa, seguia à risca as opções de Bruxelas, esquecera o pilar social.
Guterres ganha o poder em 1995, no último ano da presidência de Soares, com um programa de investimento na educação, na saúde, na criação do rendimento mínimo garantido, na instalação de lares para idosos.
Soares ainda é candidato ao Parlamento europeu com o objetivo de ser eleito seu Presidente. Não conseguiu porque os socialistas europeus não alcançaram os votos necessários. Nesse mandato, que cumpriu até ao fim, tornou-se o companheiro de um jovem líder da JS, também eleito para Bruxelas, Sérgio Sousa Pinto, que terá sido o seu último discípulo.
Regressado a Portugal, foi ainda candidato presidencial em 2006, mas foi, acima de tudo, nos seus últimos anos de vida, um construtor da unidade da esquerda contra as guerras no mundo. Denunciou fortemente as intervenções militares no Iraque. Muitos viram aí o fim do seu atlantismo, nas suas acusações ao presidente Bush, mas o que a memória dos portugueses retém é um seu texto na revista “Visão”, um ano antes de falecer que intitulou; “Putin – um homem perigoso”. Visionário, como sempre.
As duas mortes e uma vida eterna de Amílcar Cabral
Esser Jorge Silva44


Na sexta-feira, 12 de setembro de 1924, surgiu um anúncio no Diário de Lisboa dirigido aos “Senhores Coloniales” e aos “Senhores Lavradores” dando conta do aparecimento do “Motocultor” Bauche “para indústrias campesinas como para os serviços de lavoura”, capacitado para uma realidade extraordinária: “produz em cada dia, tanto trabalho como 30 brancos e mais do que 50 pretos”. Este anúncio marca o estatuto inferior atribuído à negritude na época. Marca também o tempo em que nascem as raízes de uma nova consciência que irá, ao longo dos anos, paulatinamente, consolidar uma malha mental autonómica nos povos colonizados do continente africano.
Quis o destino que a principal figura na luta pela independência da Guiné e de Cabo Verde nascesse nesse dia, nestas condições, em Bafatá, na Guiné-Bissau. Seria fortemente influenciado tanto pela condição de origem familiar como pela vivência na Guiné, nesses primeiros anos de vida. O pai era cabo-verdiano e a mãe guineense de origem cabo-verdiana. Amílcar teve três irmãos, sendo ele o segundo filho.
Os pais tinham profissões que contribuíram para a sua capacidade de visão crítica da realidade nesse primeiro quartil do século XX. Enquanto o progenitor, Juvenal Cabral, professor, desempenhou um papel crucial ao fornecer uma aprendizagem orientada para a importância da formação cultural, influenciando o seu desenvolvimento intelectual, a mãe, Iva Évora, comerciante, geria um pequeno negócio familiar que dava oportunidades ao pequeno Amílcar de contacto com as particularidades da realidade então vivida.
A influência académica do pai e da perspicácia prática da mãe nos negócios ajudou a moldar o carácter e as competências de Amílcar. Se, por um lado, a ênfase do pai na educação fomentou um ambiente de aprendizagem e pensamento crítico, a experiência da mãe no mundo dos negócios transmitia conhecimentos práticos e um sentido de disciplina atravessado por um certo ascetismo orientado para a ultrapassagem de dificuldades. Em conjunto, estas influências ajudaram a preparar Cabral para o seu futuro papel de líder,
44 Professor no Ensino Superior

estratega e intelectual na luta pela independência.
Amílcar Cabral revelou-se um aluno extraordinário logo no ensino primário.
Não só pelo seu caso, mas também por causa dos irmãos, levou os pais a mudarem-se para a ilha de S. Vicente, em Cabo Verde, aonde Amílcar viria a completar os estudos liceais no Liceu Gil Eanes. Nos anos em que vive no Mindelo, a ilha fervilha de ideias à procura da afirmação identitária cabo-verdiana, até aí atravessada pelo romantismo que havia dominado a literatura portuguesa durante o século XIX e que promovia uma certa reprodução cultural da metrópole nas ilhas. Alguns desses fervilhosos são seus professores ou amigos de seu pai. As ideias que atravessam a ilha, nesses anos da década de 1930, convocam o espírito do jovem Amílcar e detêm a sua atenção na transformação do pensamento cabo-verdiano.

Anúncio inserto no Diário de Lisboa de 12 de setembro de 1924
Esse é um tempo em que aparece a revista Claridade, uma publicação que reúne a intelectualidade local e na qual vão colaborar nomes grandes da cultura como Manuel Lopes, Baltazar Lopes da Silva ou Jorge Barbosa. São eles os “fervilhosos” da terra que dão forma e fama aos “claridosos”. A revista marca uma viragem na forma de olhar e conceber a realidade local, principalmente na valorização da identidade caboverdiana, até então completamente subsumida pela lógica do pensamento colonial.
Nas suas páginas reflete-se sobre as consciência coletiva cabo-verdiana e as idiossincrasias da cultura local à margem da imposição que procurava reproduzir a cultura portuguesa na região. A revista Claridade constitui também o fim do ideário cabo-verdiano na obtenção de um estatuto de adjacência tal como acontecia com os arquipélagos dos açores e da Madeira. Seguindo a lógica da corrente neorrealista, são a língua,

os costumes, a música, a gastronomia, as necessidades, os anseios e objetivos comuns que passam a orientar o pensamento cabo-verdiano para a ideia de nação.
É nesse caldo cultural que começam a nascer as ideias do jovem Amílcar quanto à realidade africana. Rapidamente se dá conta de que tanto a Guiné como Cabo Verde não são casos isolados. A realidade colonial é a realidade de África desde Marrocos até à Cidade do Cabo e é esse contexto que deve ser o ponto de partida para empreender transformações com vista à libertação das nações africanas. Esta sua visão já tinha nascido nos anos de frequência do Liceu Gil Eanes.

Após a conclusão dos estudos liceais, em 1945, ainda com 20 anos, Amílcar Cabral vai estudar para Lisboa. Matricula-se no Instituto Superior de Agronomia com objetivo de se tornar num profissional ligado à área do desenvolvimento rural almejando uma reforma agrária tanto para a Guiné como para Cabo Verde. Na grande cidade vai residir para a Casa do Estudante do Império (CEI), recentemente instituída, no ano anterior, para acolher os jovens das colónias que quisessem prosseguir estudos. Além de alojamento, a CEI oferecia refeições, atividades culturais e educacionais. Mas ao transformar-se num espaço de convivência e debate para os estudantes coloniais não durará muito tempo. Em 1965, uma intervenção da polícia política PIDE encerrará a instituição. Os motivos são mais do que óbvios.
Em vinte anos, a CEI transforma-se num alfobre de ativismo político e cultural de um pensamento africanista que tem na afirmação da negritude o seu cerne. Aí, Amílcar Cabral vai contactar com uma série de jovens que, tal como ele, estão possuídos de uma profunda crença na libertação dos seus povos. Priva, todos os dias, com nomes que mais tarde, de um ou outro modo, estarão na linha da frente na luta de libertação dos seus países. Agostinho Neto, escritor e, mais tarde, fundador do MPLA é um deles. Eduardo Mondlane, Amílcar Cabral, em 1942 - estudante em S. Vicente (Foto DR)

fundador da FRELIMO, assassinado em 1969, é outro dos camaradas de pensamento. Convive também com Marcelino dos Santos, Joaquim Chissano e Holden Roberto, mais tarde fundador da FNLA, um dos movimentos criados para a libertação angolana.
A vida na metrópole, como então se designava Portugal continental, deu a Cabral a noção da estrutura do poder colonial e do seu impacto nas colónias. Esta experiência aprofundou a sua compreensão dos mecanismos do colonialismo e da necessidade de um movimento de libertação coordenado e bem planeado. As contradições entre os supostos benefícios do colonialismo propagados pelo Estado português e a exploração e opressão sofridas pelos povos colonizados tornaram-se ainda mais claras para Cabral. Esse conhecimento das práticas do colonialismo prepara Amílcar Cabral para o papel de líder revolucionário. Os conhecimentos e competências que adquiriu em agronomia foram mais tarde aplicados às suas estratégias de desenvolvimento rural e de segurança alimentar nas zonas libertadas.

Amílcar Cabral quando estudante com amigos na Praia Grande em Sintra
O decurso de Amílcar Cabral, em Lisboa, foi um período transformador que moldou significativamente a sua trajetória intelectual e política. Na CEI tem oportunidade de tomar contacto com ideias revolucionárias e de consolidar um pensamento fundado nas leituras e discussões sobre as ideias marxistas, via pelo qual se constituíram quase todas as narrativas revolucionárias africanas da década de 1960. Em simultâneo, alia-se a uma rede de ativistas africanos que ajudam a consolidar os fundamentos das suas ideias revolucionárias.
Segue com redobrada atenção os escritos do sociólogo americano William Edward Burghardt Du Bois, americano e ativista dos direitos civis. Ele é um dos principais pan-africanistas. Não lhe escapa a proposta de Marcus Garvey, jamaicano, editor e proponente do movimento Back-to-Africa. Está também atento a Kwame Nkrumah, o primeiro presidente do Gana independente e um dos principais defensores da unidade e

independência de África. Dá atenção ao papel de Julius Nyerere, o primeiro presidente da Tanzânia, promotor do socialismo africano e da unidade pan-africana. E, por fim, mas não menos importante, detém-se na atividade de Haile Selassie, o todo poderoso Imperador da Etiópia, fundamental na fundação da Organização da Unidade Africana (OUA).
Todo esta atenção de Amílcar Cabral carrila-o para os princípios do Pan-africanismo, movimento político e social que visa unificar as nações africanas e os povos de ascendência africana em todo o mundo. Torna-se uma das principais vozes do movimento defendendo a solidariedade entre todos os povos de ascendência africana para trabalho em conjunto em prol do progresso económico, social e político. Apela a um sentido de fraternidade e unidade no apoio aos movimentos de independência das nações africanas e o fim da discriminação e segregação racial. Nos seus discursos, vertidos para o livro "Regresso à origem", assim como em variadas entrevistas por todo o mundo, incentiva a redescoberta e a celebração da cultura, história e património africanos.
Amílcar Cabral criou e liderou o PAIGC desde a sua fundação, em 1956, até ao ano de 1973, num total de 17 anos. Durante a sua liderança, desempenhou um papel crucial na organização da guerra de guerrilha e condução da luta pela independência contra o domínio colonial português na Guiné-Bissau e em Cabo Verde.

No dia 20 de janeiro de 1973, um sábado à noite, em Conacri, após uma receção quando regressava a casa com Ana Maria Cabral, sua esposa, foi intercetado por um grupo de membros do seu próprio partido. Ameaçado com armas de fogo, foi retirado à força do lugar de condutor do Volkswagen carocha. Alvejado várias vezes em frente à esposa sucumbiu ali, à porta de sua casa.

Horas depois, Ahmed Sekou Touré, presidente da Guiné-Conacri, anunciava a sua morte aos microfones da Rádio Nacional. Anunciava também a prisão dos executantes do atentado, admitindo que se tratavam de “assassinos a soldo, profissionais da subversão preparados e corrompidos pelos serviços especiais do colonialismo anacrónico”. Mais tarde, as explicações tornaram-se menos emotivas e mais fundadas.
Alguns membros do partido, possivelmente influenciados por forças externas, viam a liderança de Cabral como uma ameaça às suas próprias ambições dentro do Partido. Inocêncio Kani, Mamadu N'Djaga "Manecas" Fernandes e Abdulai Diallo, nomes de destacados membros do PAIGC surgiram implicados na morte de Cabral. Sugere-se, em variados fóruns, que agentes da PIDE poderão ter contribuído para exacerbar estas divisões internas, embora tal não tenha sido definitivamente provado.
O assassinato de Amílcar Cabral foi um revés significativo para o PAIGC e para os movimentos independentistas da Guiné-Bissau e de Cabo Verde. Todavia, inspirada pelo seu legado, a luta pela libertação continuou.
Ainda assim, a 24 de setembro de 1973. a Guiné-Bissau declarou a sua independência do domínio colonial português. Tratou-se de uma declaração feita unilateralmente pelo PAIGC no que eram consideradas zonas libertadas do território. A independência total seria posteriormente reconhecida a 10 de setembro de 1974, na sequência da Revolução dos Cravos, em Portugal, que levou não só a uma mudança do regime português como também das suas políticas coloniais.

Por seu lado, Cabo Verde obteria a sua independência no dia 5 de julho de 1975. O clima de abertura pósrevolução em Portugal e as negociações com o PAIGC tornaram possível a saída de Portugal das ilhas cabo-verdianas. Nos anos seguintes, entre 1975 e 1980, Cabo Verde e a Guiné-Bissau mantiveram laços políticos estreitos, constituindo-se num caso único do mundo em que dois países se viam liderados pelo mesmo partido, o PAIGC. Contudo, esta realidade que, em tudo, constituía o Os avisos das ordens do governo Português para o seu assassinato eram frequentes (DR)

programa idealizado por Amílcar Cabral esboroou fruto de um Golpe de Estado na Guiné que levou ao corte dos laços políticos entre os dois países. Cabo Verde formou o seu próprio partido, o Partido Africano para a Independência de Cabo Verde (PAICV), e iniciou um percurso político autónomo.
Esta divisão significou a segunda morte de Amílcar Cabral. Apesar das suas “duas mortes”, a memória de Cabral prevalece tanto na Guiné-Bissau como em Cabo Verde sendo reconhecido como o grande intelectual que foi capaz de aglutinar duas nações na mesma luta pela autodeterminação.
Mais recentemente, algumas das ideias do agrónomo Amílcar Cabral passaram a ser consideradas pelas
Nações Unidas no combate à desertificação. As suas preocupações sobre a aridez dos solos levaram-no a escrever “O problema da erosão do solo. Contribuição para o seu estudo na região de Cuba (Alentejo)”, texto datado de 1951 apresentado como tese final de curso, revelando-se assim como um pioneiro nas preocupações do manuseio da terra em solos ameaçados pela erosão.
Segundo Manuel Madeira, estudioso da obra de Amílcar Cabral, ele “sabia que existia uma questão técnica: Temos de ter mais água, segurar água, reter água, florestar. Tem de se promover a cobertura florestal para se combater o risco da erosão”. Os textos por si escritos enquanto estudante, quase certo fundados na grande fome que grassou em Cabo Verde na década de 1940 por falta de chuva, revelam uma consciência ecológica antecipada. Segundo o docente, este modo de pensar tem “fundamentos e conceptualizações que estão atualmente considerados na Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação, o que revela uma perceção e uma inovação” imaginadas muito antes das preocupações ecológicas.
Para além de uma vida adornada de coragem, das “duas mortes” do político revolucionário, o agrónomo
Amílcar Cabral legou-nos também linhas ecológicas para a vida comum. Convém lembrar, sempre. Amílcar Cabral.
Dário de Lisboa – Coleção consultada em http://casacomum.org/cc/arquivos (Fundação Mário Soares), disponível em: http://casacomum.org/cc/arquivos?set=e_529
Amílcar Cabral – Arquivo depositado em http://casacomum.org/cc/arquivos (Fundação Mário Soares), disponível em: http://casacomum.org/cc/arquivos?set=e_10334#!e_2617. greensavers.sapo.pt/ideias-de-amilcar-cabral-sobre-os-solos-sao-hoje-consideradas-pelas-nacoes-unidas/, disponível em https://greensavers.sapo.pt/ideias-de-amilcar-cabral-sobre-os-solos-sao-hoje-consideradas-pelasnacoes-unidas/


ZÉ CASIMIRO - Um homem singular, numa vida plural
Álvaro Nunes
Nestes 50 anos do 25 de Abril recordamos o vimaranense José Casimiro Martins Ribeiro (1940-2023), natural da freguesia de Gondar, recentemente falecido, que foi sem sombra de dúvidas um dos mais destacados nomes vimaranenses da primeira linha do combate e resistência contra o regime fascista do Estado Novo e um animador sociocultural relevante.
Zé Casimiro, assim era conhecido pelos amigos da sua geração, começou a sua consciencialização sociopolítica no seio da família, em especial no convívio com o seu irmão Eduardo Ribeiro, e seus amigos, nomeadamente com Victor Sá e Santos Simões, este último o seu grande padrinho político, que o levou à adesão à Campanha Eleitoral de Humberto Delgado em 1958. De facto, como escreveria em “Guimarães daqui houve resistência”, que reúne 25 depoimentos das gentes do nosso território sobre o 25 de Abril:
“…uma das lições mais fortes que me ficou de Santos Simões é que tudo é política e que não existe nenhuma maneira tão eficaz de fazer política, sem ter de falar explicitamente de política, como aprofundar saberes culturais, sejam eles de cinema, de teatro, de literatura, de pintura, etc… Santos Simões, por si só, foi uma escola”.
Efetivamente, para além do percurso escolástico no Liceu de Guimarães e posteriormente no Colégio de Ermesinde e Liceu Sá de Miranda, em Braga, uma vez que na cidade-berço não existia, na altura, ensino secundário, seria sobretudo na escola da vida que Zé Casimiro lançou caboucos do ensino-aprendizagem do devir.
Um futuro que começaria no passado, na Escola Prática de Cavalaria de Santarém e nas suas atitudes de recusa da Guerra Colonial, que posteriormente o enviariam para a prisão do aquartelamento e, cerca de 15 dias antes da mobilização para África, ao “salto”, entre os finais de 1963 e princípios de 1964. Uma partida com razões éticas e políticas “sem lenço e sem documento, rumo ao desconhecido”, com escala técnica em Chaves e destino à gare de Austerlitz, em Paris.
Efetivamente, na capital francesa, Zé Casimiro começaria uma nova vida. Aí, no decurso da década de

60, participaria nos cursos de Língua e Civilização Francesa na Sorbonne e de Desenhador de Construção Civil na École de Travaux Publique, bem como frequentaria o curso de Sociologia na Universidade de Paris. Entrementes, profissionalmente, já na década de 70, assumiria funções de assistente de realização no departamento de produção televisiva do 2.º

canal francês, a ORTF, como tradutor e conselheiro sobre usos e costumes portugueses e, claro, apanha o Maio 68, no qual se envolve ativamente e assume funções de coordenador da logística e informação do movimento. Como escreveria no livro citado, sobre o Maio 68:
“… foi a realização do irrealizável. O impossível tornou-se possível. (…) lutava-se agora contra uma certa forma de civilização. Estava em causa a mudança na relação do poder do Estado com os cidadãos. (…)
Tínhamos aprendido a utopia.
Tinha sido bom lutar por ideias com palavras de ordem como é proibido proibir. Tínhamos percebido o significado da frase não somos aqueles contra quem os nossos pais nos avisaram. Era uma geração ali, na rua, a dizer que estava tudo mal, e que era urgente mudar. Reclamávamos a imaginação ao poder”.
Um movimento que, como sabemos, ultrapassou o nível académico e se estendeu à sociedade e ao mundo. Entre nós, basta lembrar a sua repercussão na Crise Académica de 1969, em Coimbra, cuja Associação Académica era presidida pelo vimaranense Alberto Martins.
Como é óbvio, a experiência de Maio de 68 cimentou convicções e opções que o impeliria até Hermínio da Palma Inácio (“o último herói romântico”, segundo Natália Correia) e à subsequente adesão à Liga de União e Ação Revolucionária (LUAR).
Com efeito, os dados estavam lançados para uma nova reviravolta na vida, rumo à luta armada e não só à revolução de palavras, ainda que sempre com o princípio de não matar. Um novo combate assente na perspetiva brechtiana: “Do rio que tudo arrasta diz-se que é violento. Mas ninguém diz violentas, as margens que o comprimem”. Mas também, alicerçado nos heróis como Che Guevara e nos ideólogos como Rosa Luxemburgo, Marx, Engels e também Jean Paul Sartre, eminente filósofo francês que Zé Casimiro mais tarde

traria a Guimarães à Cooperativa Sousa Abreu (Cooperativa Fogo Posto), a primeira fábrica portuguesa a entrar em autogestão.
No decurso da luta armada, várias operações de sucesso e histórias ao serviço da LUAR se poderiam contar protagonizadas por Zé Casimiro, assim como diversas viagens, em especial à Checoslováquia, quer para a aquisição de armas quer de instrumentos tipográficos. Porém, essas ações não cabem neste simples artigo, antes exigindo o fôlego dum livro.
Entretanto, numa das operações clandestinas em Portugal, em novembro de 1973, que visava rebentar as portas do Forte de Caxias e libertar os presos políticos, as coisas correram mal e Zé Casimiro e muitos elementos da LUAR, incluindo Palma Inácio, seriam presos, torturados e mantidos incomunicáveis.

Logicamente, só o 25 de Abril viria a acabar com a prisão e traria Zé Casimiro de regresso à liberdade e a Guimarães, onde continuaria o trabalho político, ajudando a criar “delegações” ativas da LUAR no Porto, Braga e Guimarães. Todavia, perante a situação política em curso, o papel da organização passava a não ter sentido e acabaria por ser dissolvida. Como tal, Zé Casimiro volta a dar novo sentido à vida e a dedicar-se à ação sociocultural. Deste modo, participa na fundação da Rádio Guimarães e abre com dois amigos a galeria-bar, finalmente, no Centro Histórico, local de convívio e cultura musical, poética e artística. Paralelamente, envolve-se na fundação do Centro Infantil e de Cultura Popular (CICP), que, além dum infantário, dinamiza um Grupo de Teatro, um Grupo Coral e organiza a memorável Circultura.
Com efeito, recorrendo a uma tenda de circo implantada junto dos Bombeiros de Guimarães, a cidade de Guimarães vivenciaria durante cerca de dois meses a festa da cultura, com debates, exposições, pintura para crianças e formidáveis espetáculos musicais nos quais participariam nomes consagrados como Zeca Afonso, José Mário Branco, Carlos do Carmo, Vitorino Almeida, Lena de Água e ainda os Salada de Fruta, os UHF e Teté, a Mulher Palhaço…
Uma iniciativa que seria a semente de muitas outras por parte de outras associações e instituições vimaranenses, que colocariam a cidade nos carris da cultura. Recorde-se, por exemplo, os Encontros Musicais de Tradição Europeia, os Encontros de Primavera, o Festival de Jazz de Guimarães e os Festivais Gil Vicente,

entre outros subsequentes.
Zé Casimiro participaria ainda em algumas destas iniciativas, integraria também a Muralha, associação para a defesa do património e participaria na fundação da CERCIGUI.
No fundo, uma atividade cívica e de cidadania ativa que o conduziria ainda a participar ativamente numa homenagem a Santos Simões, em maio de 1989, e na fundação da Cooperativa Editorial “O Povo de Guimarães” do qual foi também colaborador profícuo e assíduo. Recorde-se, entre muitos outros, a série de artigos sobre o antetítulo genérico “A sensibilização para as coisas do espírito” e o titulo “Cultura: que coisa será?”, publicados a partir de Abril/Maio de 2003, assim como o texto “ Abril … alegrias mil!” datado de 26 de Abril de 2002, seguidamente transcrito:

“Abril… alegrias mil!
"O Povo de Guimarães" solicitou, em boa hora, a vários colaboradores que botassem cá para fora bocados de memória que, de alguma forma, estejam relacionados com o inverno salazarista, cinzento e frio, mas também de luta e de querer, que antecedeu o Abril libertador de 1974. Claro que para alguns rafeirotes isto até pode cheirar a bafio, mas a história é compreensiva e perdoa tamanha ingratidão, e a otorrinolaringologia talvez possa reactivar-lhes as glândulas odoríferas. Porque...é bonito ter passado e é feio e triste ter inexistido.
Feita esta singela introdução, e à laia de desabafo, apetece-me relembrar, com uma ténue nostalgia, o que às vezes me passa pela alma: quantas saudades de tantas vidas aceleradas, de tantas vidas vividas com intensidade, com vigor, com medos, com disponibilidade e entrega. Foi amor, foi paixão pelo combate, sem desfalecimentos, contra os medos e pesadelos, contra angústias e frustrações, contra o absurdo, contra os "valores" totalitários, contra o nacionalismo esquizofrénico e contra o sofrimento. Foi uma luta contra os reles pides e a bufaria repelente. Foi um combate desigual, mas necessário, contra a história envergonhada e entupida, contra a voz engasgada de um

povo, contra uma Pátria moribunda e sem alegria, contra um Portugal teimosamente agonizante. A Liberdade, a Dignidade e o exercício da Cidadania, e o Sonho! não podiam ser eternamente atropelados. Libertado este momento nostálgico, que certamente compreenderão, vou, muito brevemente, contar um momento, entre muitos que vivi, que tem a ver com os vários e perigosos combates que por este Portugal fora se desenvolviam: Em 1973, vim, mais uma vez, clandestinamente a Portugal e fiquei "hospedado" num apartamento do Kafkiano bairro da Reboleira, na Amadora, com o meu companheiro "Quim", que tem desempenhado altas funções no topo da hierarquia do Estado. O nosso "palacete" estava rodeado por centenas de outros, separados por paredes com qualidades de transmissão sonora de alta definição, mas impediam, e que chatice, que se pudesse espreitar as intimidadas dos vizinhos! Sabíamos que num apartamento paredes meias com o nosso vivia um casal jovem, constituído por uma funcionária do então Ministério do Interior e por um agente da polícia Judiciária. Até aqui tudo bem, até nos sentimos "protegidos", pois ninguém iria suspeitar que ao lado dum polícia da Judiciária pudessem viver dois "perigosos" revolucionários.
Mas numa noite, o caldo ia-se quase entornando. Estávamos, tranquilamente, a proceder à limpeza dumas pistolas, quando apanhamos um susto dos diabos: ouviu-se um som seco, forte e penetrante, parecido com um tiro. "Que raio foi isto, o que terá acontecido?!????", interrogávamo-nos de olhos arregalados, os ombros encolhidos e a respiração suspensa. Ora, como as paredes deixavam, à vontade, passar o som para o exterior, receávamos, naturalmente, que mais alguém se tivesse apercebido de que qualquer coisa invulgar tivesse acontecido. Enquanto os nossos corações se iam recompondo e as nossas cabeças saiam da ebulição, reparamos que numa das paredes estava, meio encravado, um pequeno objecto arredondado que nos parecia ser familiar. Não foi necessário utilizar nenhuma lupa nem proferir aqueles palavrões de circunstância para sabermos a verdade: uma bala atrevida, que se tinha escondido na câmara de uma das pistolas, quis dar um arzinho da sua graça e, aproveitando a fase de limpeza da arma, resolveu vir tomar ar, sem dar cavaco a ninguém. Refeitos, a custo, desta imprevisibilidade, e reagindo com a frieza possível, tentámos controlar a nossa postura e começámos a arrumar tudo (armas e munições, milhares de panfletos e de manifestos políticos...)
Enquanto reflectíamos e avaliávamos as eventuais consequências deste incidente ouvimos alguém bater à porta. As nossas cabeças esforçavam-se em transmitir normalidade aos nossos gestos e à nossa respiração. Não podíamos mostrar quaisquer sinais de preocupação ou de nervosismo.
Abrimos a porta com doçura e apareceu-nos o tal "vizinho-judite" a perguntar se não tínhamos ouvido um barulho esquisito, assim parecido com um tiro.
"Algum barulho?! Não, não ouvimos nada de anormal; só se foi a televisão", dissemos nós com um ar angélico e "naturalmente" espantados (entretanto tínhamos aumentado o volume do som da TV). O agente desejou-nos boa noite e lá se foi embora (convencido?), e nós, à cautela, e porque as regras de segurança assim o aconselhavam, ensacamos tudo e mudamos de apartamento... mas perdemos uma bala. E a luta

contra a ditadura lá continuou, pura e dura. Este episódio, resumidamente descrito, durou, na altura, uma eternidade atingiu uma tensão que a memória dificilmente pode quantificar. Mas que foi grande, lá isso foi.
Passados uns mesitos, fui obrigado a mudar, mais uma vez, de residência, por outras razões, e fiquei "hospedado" em Caxias, mas sem vista para o mar. Todavia, como tinha marcado encontro com a História em Abril de 1974, segui o conselho do Zeca Afonso quando dizia: “. não faltes ao encontro e se constante..." Sejam felizes e saboreiem a Liberdade (que tanto custou a reanimar), se e enquanto puderem, apesar de pairar no ar uma espécie de ameaça de loucura e de perigosidade num mundo bizarro, onde poucos, muito poucos, fazem o que lhes dá na real gana e querem ser, cada vez mais, os "senhores à força e os mandadores sem lei” Cuidado!... Há tentativas, cada vez mais permanentes, despudoradas e sofisticadas para banalizar a prepotência, o egoísmo, a arrogância, a manipulação e o ressentimento; e meter no mesmo saco a violência do desespero, da sobrevivência e subtilmente provocada, e a violência cínica, cirúrgica, selectiva, hipócrita e desumana, que obedece a uma estratégia intervencionista, belicista, globalizante e falsamente curativa e salvadora, é, no mínimo, perverso e pouco honesto. Interesses mais altos se (a)levantam, não é verdade, senhores obcecados pelo poder total e hegemónico? Querem o mundo a vossos pés? E eu pergunto em voz alta: Será esta a globalização que se deseja?
Às vezes os ventos mudam, imprevisivelmente, de direcção!...
A propósito: ABRIL... alegrias mil!”
Em súmula, um homem de luta(s) e de convicções, um amante da liberdade e da democracia, um agente da cidadania comprometida e da cultura ativa em prol da sua cidade e duma sociedade melhor, sempre e incansavelmente melhor.
Um homem singular, numa vida plural…


O herói por acidente
Paulo César Gonçalves
Há uma razão pela qual não me canso de lembrar e relembrar o papel do Dr. Alberto Martins na construção da nossa democracia: foi a voz de um estudante.
Os estudantes, neste e noutros países, são e sempre foram tratados como dados adquiridos: sem voz, sem vontade, obedientes e passivos.
A geração de Coimbra do final da década de 60, como outras gerações antes e depois, por certo, mas talvez pela década em si (uma das mais disruptivas da história moderna), e pelas múltiplas circunstâncias, abraçou os problemas do país e quis mais, não apenas para si, mas para todos.
Sublevou-se a uma universidade velha, classista, privilegiada, bolorenta, espelho de um país parado no tempo, refém da guerra, da ignorância imposta e da pobreza institucionalizada.
O Dr. Alberto Martins, metáfora para a coragem estudantil, foi o rosto de toda aquela gente que pensava numa possibilidade fraterna, altruísta, solidária e justa.

Ao comentar toda a situação por que passou, numa homenagem que lhe foi feita, aqui ao lado de Guimarães, em Vizela, o Dr. Alberto Martins confessou que se considerava uma espécie de "herói por acidente”. Segundo o próprio, sem falsas modéstias, ele tinha sido escolhido para encabeçar a lista do Conselho das repúblicas de Coimbra à Direcção-Geral da Associação Académica de Coimbra porque "era um tipo do teatro, que era conhecido e tinha ideias de esquerda”.

Consigo entender o despojamento: o que aconteceu em Coimbra só se consegue perceber à luz de uma enorme solidariedade e empatia entre milhares de estudantes que se sabiam, de certo modo, privilegiados em relação ao país, pobre, atrasado e analfabeto. Aquela juventude lutava por si e pelos outros, pelo seu povo, afrontando o marasmo do status-quo.
Maldito o mundo ou o país que precise de heróis, mas se os há, o Dr. Alberto Martins é um deles.
Pelo menos é um dos meus.
Mesmo que por acidente.


A minha Revolução de Abril - Memórias desses tempos
Fernando Capela Miguel
Lembro-me de ter chegado a Lisboa e de a encontrar num autêntico rebuliço inusitado. Gentes de todas as idades na rua em grande balbúrdia e muita daquela gente, sem eira nem beira, sem saber que direcção tomar, deambulavam em todas as direcções em busca de alguma coisa que, até à data, nunca tinha chegado a existir: – A Democracia. A Democracia?!!! Que é isso?!!
Lembro-me de não ter tempo para dormir só porque queria assistir a todos os momentos únicos que aconteciam imprevistos, novos, inesperados, provocados pela alegria de uma revolução que eu desconhecia, mas que acontecia, sobretudo nas ruas desde Abril de 1974.
Tinha conquistado um último adiamento militar e assim não entrei em Março de 74. Somente em Setembro fui incorporado nesse ano fabuloso na polícia militar. Cheguei ao quartel estava tudo em alvoroço e o oficial de dia que nos recebeu mandou-nos sair e voltar somente a meio da tarde.
Éramos um grupo de 14 mancebos, imberbes a tentar entender tudo aquilo que estava a acontecer.
Entretanto chegamos ao Cais de Sodré e, para meu espanto, saíam centenas de operários da Lisnave que, vestidos de fato de macaco azul, só tinham para os distinguir o capacete de cores diferentes. Eram dezenas, centenas!!!
Assim saíam dos cacilheiros e, em grupos de 15 organizavam-se em alas perfeitas que subiam as avenidas da prata e do ouro perfeitamente alinhados a assobiar a internacional que fluía no ar como um Hino novo!!!
Nem parecia que estavam milhares de cidadãos no Rossio à espera de abraçar a Li-ber-da-de. A polícia, nem vê-la! Não era necessária!
Depois daqueles momentos únicos e emocionais vislumbramos um barco que lentamente corria o Tejo em direcção à foz. Dizia-se que eram os últimos soldados para Angola e ouvia-se a gritaria que faziam: Viva a Liberdade!!!
De repente, toda aquela multidão no Rossio gritou de tal maneira que ecoou na cidade:

“Nem mais um soldado para as colónias!!!”
Foi o resto da tarde a gritar com milhares de cidadãos desconhecidos, até perder a voz!!!
Ao fim do dia, quando voltamos ao quartel, o oficial de dia de serviço informou-nos que teríamos de deixar livre as camaratas para receber os soldados daquele barco que já não ia para África.
Tivemos que fazer as malas e largar o “poiso” em busca de novos cómodos. Durante uma semana vivemos num quarto alugado no Bairro Alto. Éramos quatro jovens meio perdidos em Lisboa a viver nos escaninhos da Revolução…
A camarada Lia levou-nos para casa dos cabo-verdianos onde provamos a chaputa e matamos a fome. Até nos quedamos até às tantas da madrugada embalados pelas mornas e coladeiras e alegria dos nossos irmãos…
Adormecemos encostados uns aos outros e de lá saímos já o sol ia alto, sempre a descer a rua do Alecrim até à estação do Cais do Sodré. Fomos de comboio ao longo do rio Tejo até ao Estoril meter o pé na água, tomar um banho de fim de tarde e voltar no comboio para Lisboa.
No Rossio encontramos camaradas do quartel que nos informaram que várias companhias em vez de irem para a Reserva iam fazer as campanhas do MFA e queriam voluntários para acompanhar a Engenharia que iria fazer casas, pontes e fossas e várias outras obras nas aldeias. Nós fomos voluntários!!! Éramos quatro jovens “globetroters”.
Nos TT – com rodas ou com lagarta lá fomos na primeira incorporação até Favaios, ali no coração do Douro onde criamos um centro cultural, ensinamos gente a ler ou lemos obras de autores famosos da língua portuguesa, àquelas gentes das pequenas aldeias que nos recebiam de braços abertos como se fossemos familiares que não viam há muito tempo.
Acampávamos em tendas do exército e criávamos uma autêntica cidade cujas tarefas partilhávamos entre todos. Construíam-se casas para pobres, pequenos bairros de cinco casas. Fazíamos esgotos com fossas e abriam-se caminhos de terra batida com o beneplácito das autarquias locais…
Foi talvez depois da Liberdade, a maior conquista da Revolução de Abril – As autarquias locais para não falar de outras e evidentes como o índice de pobreza…
Abril aconteceu, felizmente para todos nós!!!
Pedi autorização ao oficial e incorporei esta nova aventura quando nos cruzamos com uma nova brigada que ia em direcção ao Gerês.

Durante um mês tiramos as aldeias de Bilhares e Ermida do isolamento centenário. A engenharia com as suas máquinas abriu aquele difícil estradão que hoje é utilizado pelo povo e convivemos e coabitamos com estas comunidades levando-lhes actividades culturais para grande surpresa de todos.
Eu cá tinha curso de manipulador protecionista e com projectores 16 mm proporcionei-lhes imagens de filmes para gáudio de todos pois não sabiam o que era o cinema:
“A ria de Aveiro”; “O Algarve de Portugal”; “O Couraçado Potemkim”; “A floresta Portuguesa”; “Sansão e Dalila”; “Bucha e Estica” e “Charlot operário” foram alguns dos filmes que me lembro de projectar para alegria daquela gente.
Tenho boas memórias destes tempos em que falávamos sem medos de “liberdade”, de “política” de “democracia” de “eleições” e de “Povo”. Tenho registos extraordinários dos círculos de estudo com aquela gente sempre sôfrega e curiosa e que nas noites de reuniões acabávamos a beber um copo de aguardente aquecida à lareira, ou de jeropiga que nos ofereciam magnanimamente.
Lembro-me ainda da senhora Rosa do moleiro e da irmã Micas costureira, do António Cabresto, do Manuel Rispas, do Sebastião Caturra e do Zeca Gato quando escreveram o seu nome no caderno de treino para irem levantar a “reforma”. As lágrimas silenciosas caíram pelos rostos e no final do mês já na hora da despedida e num abraço emocionado me murmuravam ao ouvido:
– Agora já sei escrever o meu nome!!!
– Obrigado menino!!! Obrigado parece que nasci novamente!!!
Por tudo isto e muito mais que não tenho tempo de contar, mas que vivi emocionado, quero declarar aqui que foi uma experiência única. Porquê??? Eu vos direi…
Primeiro: Era um jovem com 20 anos, de espírito aberto para o Mundo e disponível para todas as aventuras improváveis;
Segundo: Abril permitiu-me vivenciar novos horizontes que me lançaram por caminhos imprevisíveis que de outra forma nunca trilharia onde encontrei amigos e camaradas, companheiros que foram mestres em diferentes e fabulosas aventuras culturais, políticas, sociais, religiosas e humanistas;
Terceiro: Abril deu-me acesso a valores e a aprendizagens únicas que fizeram de mim um paladino da Liberdade e da Democracia, da defesa da Dignidade Humana e dos Direitos Humanos;
Quarto: Abril e as suas vivências fez de mim um obreiro permanente da defesa dos valores fundamentais

da cidadania e da luta contra os dogmas e tiranias;
Quinto: Cidadão atento ao quotidiano e ao possível desvio das virtudes da Democracia, obreiro permanente da PAZ e soldado voluntário contra os arrufos dos Tiranos; arrivistas, racistas e fundamentalistas;
Sexto: Abril fez de mim um cidadão Republicano e laico, atento aos valores da Democracia e à defesa constante da Dignidade Humana;
Sétimo: Abril, sem dúvida, a minha verdadeira escola. Curso Universitário, superior e Humanismo crítico e gnóstico que me guiaram nestes 50 anos passados no âmago de uma Revolução vivida avidamente… 25 d’Abril sempre… Até fenecer!!!
Nota: Claro que estamos a precisar de planear e fazer um novo 25 de Abril, mas isso já será outra Revolução que será preciso reflectir e mobilizar os cidadãos que fazem o POVO PORTUGUÊS.
PORTUGAL agradece, pois tem futuro!!!


Álvaro Laborinho Lúcio
Se há Instituição que, ao longo dos 50 anos que sucedem ao dia 25 de Abril de 1974, verdadeiro sucesso alcançou, ela é, sem dúvida, a Escola Pública Portuguesa.
Dados incontestáveis permitem concluir pela sua eficácia absoluta na erradicação do analfabetismo; por um êxito significativo no aumento das várias literacias; e por um resultado muito positivo na luta contra a exclusão social.
Todavia, enquanto isso, o mundo foi mudando e, com ele, o nosso país. A sociedade «invadiu» a escola, vindo a conferir-lhe uma natureza que, a breve trecho, se mostrou dificilmente compatível com uma concepção tributária do modelo reconhecido à «escola burguesa», que, em boa medida, se manteve. Não foi este, porém, problema exclusivamente nosso. Na verdade, ainda há pouco, Peter Sloterdijk, abordando questão semelhante quanto à escola em geral, afirmou, criticando-a, produzir, ela, «docentes que já só lembram docentes, disciplinas que já só lembram disciplinas, alunos que já só lembram alunos» (2018; 530)45 .
Ora, se no caso português pode aceitar-se, ainda que longe de um rigor absoluto, a denúncia de Sloterdijk quanto aos docentes e às disciplinas, já o mesmo se não verifica quando se adianta que os alunos só lembram alunos. É que esse foi, e é ainda, talvez, o mais complexo problema com que se confronta a nossa Escola Pública, colocada perante a questão de saber como compatibilizar um modelo de inspiração normativa tradicional, com as exigências de uma Escola Democrática ou, dizendo de outro modo, como adaptar velhos processos, definidos em abstrato e dirigidos à figura, também ela abstracta do aluno, a novas exigências trazidas pelo desaparecimento deste e pela sua substituição por alunos e alunas, todos e todas diferentes entre si.
Enquanto isto, ia sendo o próprio objectivo da Escola Pública a entrar em crise, não faltando quem abrisse dois campos inconciliáveis colocados à escolha do decisor político, que haveria de decidir entre o
45 Sloterdijk, P. (2018), Tens de Mudar de Vida, Lisboa, Relógio d’Água.

desenvolvimento económico como grande motor da educação, ou, diversamente, a democracia e a cidadania como seu objectivo essencial, aí fazendo repousar a sua intencionalidade última. Perante tal dicotomia, a sociedade, cunhada agora, como «sociedade da informação», do «conhecimento» e das «novas competências», afirmava uma face ideológica avessa à neutralidade e ditava, assim, a referência mestra que devia presidir aos desígnios da educação formal a prestar pelo Estado (Azevedo; 2007; 23)46. Ficava mais longe uma escola «pensada e estruturada tendo em vista a sistemática aprendizagem da cidadania moderna», e optavase progressivamente, por vezes ainda que inconscientemente, pela formação de sujeitos administrados e conformados, obedientes, a um tempo sujeitos e objecto do chamado pensamento único.
Como consequência, a Lei de Bases do Sistema Educativo, diploma fundador da Escola Democrática, no qual ressoava o eco dos princípios fundamentais que lhe eram cometidos pela Constituição da República, foi sendo progressivamente silenciada pela vozearia introduzida na própria escola na qual se chocavam novos termos, «benévolos» uns, como norma, exigência, sucesso, competição, mérito; «malévolos», outros, como indisciplina, desinteresse, insucesso, incapacidade. Quando tudo parecia apontar para uma mudança ao nível dos métodos, da pedagogia e da organização e para uma revisão dos currículos e do sistema de avaliação, foi, em boa medida, o contrário que veio a verificar-se, e a Escola Pública, rejeitando a evidência da complexidade, da diversidade e da heterogeneidade que passaram a constituir a sua natureza, voltou a repousar sobre o mito da igualdade, da norma, da disciplina, todas definidas de cima para baixo, indiferente ao embate que viria a produzir na camada de alunos e alunas de todo impreparados para a receber. Perante as repetidas queixas de uma insuportável indisciplina, não faltou, entre os professores, quem, mais atento, tivesse chamado a atenção para o facto de se não estar diante de um problema de indisciplina, mas sim perante um problema de disciplina (Beltrão; Espelage e Lopes; 2013; 8-9)47 .
Tudo, afinal, quando pareceria tão fácil concluir que, em vez de teses em conflito, o que se tinha em mãos era um desafio, hercúleo, é verdade, mas exactamente o de atribuir à Escola o desígnio duplo de concorrer para o desenvolvimento económico e para a democracia e a cidadania. Desde logo, em respeito pelos valores democráticos traçados a partir de Abril de 1974. Ora, isso, teremos de reconhecer, está ainda longe
46 Azevedo, J. (2007), Sistema Educativo Mundial, Ensaio sobre a regulação transnacional da educação, Vila Nova de Gaia, 5 FML.
47 Damião, H., Prefácio a Indisciplina Na Escola, (2013), Espelage, D. e Lopes, J., Lisboa, Fundação Francisco Manuel dos Santos.

de ser conseguido.
E, todavia, mesmo assim, a Escola Pública suportou, sem rupturas definitivas, a passagem de um ensino, primeiro de quatro e mais tarde de seis anos obrigatórios, para um ensino de doze anos; abriu as portas do ensino superior a um número até então jamais imaginável de jovens estudantes; deu passos significativos no difícil campo da inclusão de crianças e jovens com deficiência; e caminhou, ainda que com avanços e recuos, nos campos do ensino profissional e da educação pré-escolar.
Porém, e ao mesmo tempo, é esta mesma Escola que se encontra hoje numa situação difícil, a reclamar políticas públicas urgentes e desejavelmente consensuais, que comecem por restabelecer a ligação, também empática, entre professores, alunos e responsáveis políticos. Para tanto, urge repor a respeitabilidade da profissão de professor, tanto pelo lado da afirmação do seu estatuto, tornando-o correspondente ao grau de exigência que a profissão reclama; como, também, pelo lado da sua responsabilização pela qualidade do desempenho, para o que, antes de tudo o mais, importa começar por desobrigar o professor de tarefas que melhor caberão, uma vez reformado, ao corpo administrativo da escola, vinculando, assim, a docência à exigência enorme que a caracteriza, não apenas enquanto ensino, mas essencialmente como veículo para uma aprendizagem efectiva de todos e cada um dos alunos e alunas.
Do mesmo modo que, conhecedores agora dos muitos êxitos e de alguns fracassos que a Escola reuniu ao longo destes anos, urge reflectir sobre a sua natureza, sobre os seus objectivos novos, sobre os desafios que tem pela frente.
Não é este, evidentemente, o lugar para o fazer. Porém, como dissemos já algures, uma desejável convergência em matéria de princípios gerais parece essencial, desde logo, para evitar práticas que os contrariem, desde o mito da igualdade na avaliação dos alunos, até ao equívoco da competição como pedagogia para a vida; desde a falsa equivalência entre combate ao insucesso e facilitismo na avaliação do mérito, até à obsolescência de áreas curriculares que impedem a opção por outras indispensáveis à formação das crianças e dos jovens de hoje; desde a persistência em modelos de ensino-aprendizagem passivos, até à prova de uma apreensão apenas memorizada pelos alunos; finalmente, desde a indefinição dos termos da relação entre escola e famílias, até ao modelo de avaliação dos docentes e do desempenho efectivo das escolas, e ao envolvimento da comunidade educativa no próprio processo educativo. Tudo são apenas alguns dos aspectos a demandarem reflecção e debate, mas também estudo especializado a reclamar do mundo académico competente.

Passaram 50 anos.
Do Movimento das Forças Armadas, emergiram três grandes objetivos para o futuro então iniciado: Democratizar; Descolonizar; Desenvolver. Eram os Três Ds do MFA.
Garantidos que foram todos eles, bom seria agora que, no mesmo movimento de celebração, fosse possível a assunção cívica e política do compromisso de tornar próprio de cada uma e de cada um de nós, os mesmos três objectivos, ora avaliando criticamente a nossa condição de democratas e reafirmando o desígnio de nos mantermos como fiéis garantes dos princípios e valores democráticos essenciais; ora assumindo a nossa autonomia crítica e activa, contra a indiferença, também, esta, expressão da condição de colonizado; ora, finalmente, procurando na relação com o outro o campo privilegiado do nosso próprio desenvolvimento pessoal e colectivo.
Este, pois, um dos grandes objetivos a reclamar de uma Escola Pública renovada, que propicie a todos os alunos e alunas a realização do direito a expressar e a desenvolver o máximo das suas capacidades para, assim, poderem participar na vida pública, seja na sua dimensão polícia, económica, cultural ou social.
O novo tempo é – diz-se – o do digital. À Escola cabe, assim – diz-se também -, garantir a respectiva transição. Cumpre-lhe, todavia, não se deixar confundir invertendo a relação de valor que sempre se estabelece entre o essencial e o instrumental.
Para tanto, entre vários outros, Carlos Estêvão contribui decisivamente com o seu conceito de Escola Cidadã que, segundo as suas palavras, «deve […] posicionar a educação como uma componente fundamental do desenvolvimento do sentido da justiça e do empowerment pessoal e social, redignificando as metas da educação, em sintonia com a construção de uma democracia sensata, de uma democracia como direitos humanos. A escola cidadã exige, também, uma outra forma de praticar o trabalho pedagógico, mais político no sentido de dar prioridade às questões da crítica, do debate, da participação, da justiça, dos direitos» (2012; 89)48 . Finalmente, 50 anos decorridos sobre o 25 de Abril, ao sonho, realizado, de liberdade, junta-se, agora, o desejo, renovado, de paz, afinal, no retorno à ideia de «um direito à paz através da educação».
Como recorda Sofia Nascimento Rodrigues, na sua bela obra Maria Montessori, A Educação Que Constrói
48 Estêvão, C. (2012), Direitos Humanos, Justiça e Educação Na Era Dos Mercados, Porto, Porto Editora.

A Paz, «no final de 2022, o Papa Francisco, dirigindo-se aos participantes na sessão plenária da Pontifícia Academia das Ciências, pediu que os membros dessa academia promovessem ‘conhecimentos que visem a construção da paz’. Disse também: ‘é necessário mobilizar todos os conhecimentos baseados na ciência (…) para evitar guerras’. E ainda: ‘Os cientistas do mundo podem unir-se numa única comum disponibilidade e formar uma força de paz» (2023; 300)49 .
O mesmo Papa Francisco que, já antes, na sua Carta Apostólica Evangelii Gaudium, afirmara que «tornase necessária uma educação que ensine a pensar criticamente, e ofereça um caminho de amadurecimento nos valores».
É, pois, aprendendo «a pensar criticamente»; a escolher criteriosamente; e a agir de forma competente, intervindo, na complexidade, com liberdade, autonomia e solidariedade, que cada um e cada uma de nós, jovem ou não, por via da Educação e da Escola, estará em condições de marcar o seu tempo e continuar a realizar Abril.
49 Rodrigues, S.N. (2023), Maria Montessori, A Educação Que Constrói A Paz, Alfragide, Oficina do Livro.
O 25 de Abril, uma Janela de Oportunidades


Antes de mais, e para uma melhor compreensão da evolução do processo educativo antes e depois do 25 de Abril, vamos situar-nos no tempo.
Aproximavam-se as 08.30 da manhã. Esbaforido, corria para o portão da Escola Comercial e Industrial de Guimarães, na tentativa de chegar ainda antes do toque para a primeira aula. Ao portão, impávido e sereno como sempre, o sr. Constantino. Olha para mim com uma calma arreliadora face ao esgotar do tempo que perpassava na minha mente e diz-me num tom meio sarcástico, meio solene:
- Onde vai com essa pressa toda, sr. Doutor? Tenha calma que hoje não há aulas!...
- Pum!... Um baque de incredulidade e espanto!
- Não há aulas, mas que conversa é essa, ó Sr. Constantino? Ainda nem sequer deve ter dado o primeiro toque.
- Não deu o primeiro, não vai dar o segundo, nem sequer haverá mais toques hoje. O Sr. Diretor decidiu encerrar a Escola, porque há confusão lá para baixo, em Lisboa.
- Confusão, mas que confusão?
- Olhe eu aqui não sei de nada. Só sei o que ouço para aí sussurrar. Parece que houve um golpe de Estado.
- Golpe de Estado?! Mas que conversa é essa, sr. Constantino? Que golpe de Estado?
- Isso gostava eu de saber, mas não sei. Olhe, vá andando por aí adiante e vá até ao centro do Toural, que estão lá todos os professores e muitos alunos e pode ser que consiga saber mais alguma coisa.
- OK! Muito Obrigado, aí vou eu.
- E não se esqueça de me vir pôr ao corrente, que eu não posso sair daqui do portão.
- Esteja descansado, Sr. Constantino. Logo que saiba alguma coisa eu comunico.
E lá fui eu, coração a saltar na escadaria da curiosidade e da incerteza e, por que não, do receio.
Foi assim, sem mais nem menos, que eu comecei a viver o meu dia 25 de Abril de 1974. Dava, então, aulas na Escola Industrial e Comercial de Guimarães, cujo Diretor era o Dr. Daniel Nunes de Sá e, como quase sempre, dirigia-me, na ‘queima’ para a primeira aula, antes que soasse o segundo toque, que era sinal de

falta.
Poderia recorrer à hipotalâmica zona da memória de longo prazo, para recordar o mundo avassalador de emoções que então me percorreram, mas não. Não o vou fazer. Não vou perder-me na narrativa das emoções que me assaltaram na altura. Nem por sombras. Poderia ser interessante, até porque as mantenho bem vivas, face ao choque intenso, permeado por uma perceção que se perdia nas nuvens da incerteza, da insegurança, não permitindo qualquer tipo de sentimentos consolidados, capazes de originar imagens mentais e, consequentemente, consciência do facto.
Por isso, e por muito tentador que seja o desafio, vou pura e simplesmente ignorá-lo, até porque não é esse o cerne da narrativa que nos traz aqui. Vamos deixar-nos de revivalismos e vamos concentrar-nos na análise do efetivo contributo do 25 de Abril na educação vimaranense, contexto em que, como acaba de constatar-se, eu era já um agente ativo desde 1972.
O 25 de Abril, importa desde já dizê-lo sem quaisquer rodeios, veio transformar todas as estruturas sociais e educativas do país e, por inerência lógica, de Guimarães. Nenhum recanto, por mais recôndito que fosse, ficou alheio a tal influência, podendo, com maior ou menor intensidade ser alvo de transformações mais ou menos estruturantes. A democracia emergente mudou radicalmente a educação e a educação acabou, em última análise por se transformar no cadinho burilador das sinergias transformadoras do país, num processo nem sempre, ou quase nunca, linear, mas sempre, sempre estruturante.
Todavia, e como em quase todas as situações de rutura, há todo um contexto sociocultural que, numa espécie de ‘borralho’ de sinergias aparentemente adormecidas, vai caldeando vetores, forças que emergem, quais sementes despertas num lento, mas poderoso calor que a sociedade engendra na sua dinâmica existencial. O 25 de Abril não nasce ao acaso, nem por acaso. É fruto desse lento caldear de sinergias sociais, buriladas nas recônditas fissuras do cadinho da oposição ao regime, nas incoerências da guerra colonial, nos recônditos da miséria que conduzia à emigração. Foi um processo longo, lento, que colheu sinergias de diversas vertentes e tipos e que, no que à educação diz respeito, e após o movimento de 68, encontrou na ‘Reforma Veiga Simão’ uma resposta mais ou menos cabal às exigências de então.
A Lei 5/73 de Veiga Simão, expressão de um projeto de efetiva mudança, ou mero ato de ‘travestismo humanista’?
Quando falo da educação em Guimarães antes do 25 de Abril, óbvio se torna que me refiro aos anos

mais próximos, aos anos do Governos de Marcelo Caetano, que são os que estão socio educativamente ligados a 1974. Claro que a universidade que D. João III criou no mosteiro da Costa e onde estudou el-rei D. Sebastião também é antes do 25 de Abril, mas convenhamos que não influenciou, nem esteve ligado ao fenómeno. Nem tão pouco a passagem do Liceu Martins Sarmento, assim denominado em 1917, para Liceu Nacional em 1947, sendo embora fenómenos educativos antes do 25 de Abril interferiram estrutural ou minimamente no que nos traz à reflexão.
Quando se analisam fenómenos, como os educativos, num determinado contexto, neste caso do 25 de Abril, importa equacionar as sinergias envolventes ao ‘zeitgeist’ contextualizante, pois é nele que se configuram, em última análise, as dialéticas que acabam por despoletar a realidade seguinte. Na verdade, é na subreptícia luta dos contrários, onde as teses geram antíteses que, por sua vez levam a sínteses, que serão novas teses, que o ‘zeitgeist’, ou clima sociocultural da época se forma, burila as suas sinergias, fundamenta atitudes, entendimentos e condutas. Por isso é que não faz qualquer sentido perdermo-nos em factos, porventura aliciantes na sua curiosidade e caráter anedótico, que não fazem parte do ‘zeitgeist’ das décadas de 60 e 70, aquelas que engendraram no seu seio, nas contradições e dialética existencial, as sinergias conducentes às mudanças de Abril.
Foi nesse sentido que trouxe à reflexão a Lei de Bases de Veiga Simão, que funcionou social e politicamente como efetivo propedêutico das mudanças que posteriormente se operaram. Por isso, e para compreendermos com alguma clareza a transformação educacional em Guimarães, no pós-25 de Abril, temos necessariamente de enquadrar os ventos de mudança que sopravam à altura, e de que a Lei de Bases de Veiga Simão, Lei 5/73 de 25 de julho, poderá ser considerada como uma expressão paradigmática. Centrando-se na remodelação orgânica do ensino, esta lei, que não chegou nunca a ser regulamentada porque, entretanto, se deu o 25 de Abril, procurava estruturar o ensino, desde o seu primeiro patamar, o Básico, até ao Ensino Superior.
Recorrendo às palavras do próprio Veiga Simão, constatamos que, em seu entendimento, esta reforma tinha como objetivo último “servir o povo”, uma vez que a base educativa do saber ler e contar já não era suficiente. Patenteava-se a ingente missão de criar um sistema educativo que permitisse a sua realização plena, enquanto indivíduos e cidadãos (Contas à Nação, janeiro de 1972, citado por Rodrigues, M. L., 2014).
Na sequência das convulsões sociais e educativas de 68, a Lei de Veiga Simão surgia envolta num contexto inovador e mobilizador, já que procurava modernizar o ensino, no sentido de dar resposta aos desafios

que prementemente se colocavam e que evidenciavam a dissonância do sistema vigente, face aos novos desafios que se patenteavam no horizonte. Este caráter levou mesmo Stoer (1986, p. 28) a encarar a Reforma Veiga Simão como “indicador concreto do colapso da ideologia educacional dominante da era de Salazar”. Era a resposta da modernidade com os seus inovadores paradigmas educativos.
Ao encarar o sistema educativo composto pela educação pré-escolar, pelo ensino básico, que era prolongado, bem como pelo ensino técnico, equiparado ao ensino liceal, a lei em questão determinava que o ensino secundário complementar tivesse como objetivo preparar para o ingresso nos cursos superiores, ou para a inserção na vida ativa, garantindo, pela primeira vez em Portugal que os alunos do ensino técnico pudessem aceder ao ensino superior, em condições de igualdade com os alunos do ensino complementar.
Deste modo, ao possibilitar tal ‘intercâmbio’, a Lei Veiga Simão fundamentava uma preparação cívica e educativa capaz de “preparar todos os portugueses como agentes e beneficiários do progresso do País” (ponto 2, Base III, da Lei n.º 5/73), num processo fundamentador de “uma educação de ordem cultural e científica que favorecesse o desenvolvimento da personalidade e a adaptação às exigências sociais e profissionais” contemplando “a frequência, com aproveitamento, de grupos de disciplinas incluídas noutras modalidades do sistema escolar” (Base XII, da Lei n.º 5/73), o que poderia ser conseguido através da frequência de disciplinas comuns em cursos de natureza diversa, o que certamente era inovador à época, mas refletia na perfeição as novas tendências educativas da modernidade emergente.
Apesar de não ter sido regulamentada, a Lei 5/73 não deixou de se apresentar como efetivo fator de novas perspetivas para a educação, de assunção de novo estatuto educativo, enquanto vetor crucial da cidadania. Comentando tal papel, Stoer (1986, p. 48) refere expressamente que ela foi deveras importante, pois “abriu caminho para o planeamento e a política educativa na década de setenta”, numa “certa marcha para a modernização”, alicerçada por uma interação idiossincrática entre a educação e a orientação da economia. O seu impacto, pese embora o seu curto período embrionário, foi igualmente sentido pelo regime que, face à “sua ambição e vastidão, ao ritmo das realizações que abrangem globalmente os diferentes graus do ensino”, a considerou, como “porventura o maior esforço, a tentativa mais ousada que se tem feito em Portugal” (Duarte Amaral, Diário das Sessões, 1973: 5038).
“Educar todos os portugueses num paradigma de efetiva igualdade de oportunidades, independentemente das condições sociais e económicas de cada um, é o objetivo desta batalha da educação” (Valente Sanches, Diário das Sessões, 1972: 3740), o que, convenhamos se apresenta como medida inovadora, quiçá

mesmo revolucionária. Este esforço, que Veiga Simão preconizava, foi potenciado pelas reformas após 25 de Abril que patentearam, apesar de muitas limitações e incoerências estruturais e estruturantes, uma evolução tendente a uma universalização e equalização do acesso ao ensino.
Se olharmos para os resultados presentes na base de dados da ‘Pordata’ (Fundação Manuel dos Santos), abaixo transcritos, facilmente constatamos tais propósitos. Efetivamente, e apesar da população jovem ir progressivamente diminuindo, vemos que a escolarização aumentou significativamente a nível nacional, com exceção do ensino básico, tendencialmente em queda de frequência, face à progressiva diminuição da natalidade. De facto, enquanto em 1974 a taxa bruta de natalidade era, em Guimarães, de 19,6%, em 2022, ela pauta-se pelos 7.7%, numa dinâmica social que temos inevitavelmente de considerar. De acordo com os dados do INE, em 1974, nasceram no país 171979 crianças, contra 83671 nascidas em 2022, ou seja, praticamente metade. Tal fenómeno tem visíveis influências no processo socioeducativo, tem notórias consequências em toda a dinâmica que o envolve.
Para melhor compreendermos tudo o que vimos afirmando, creio que nada melhor do que um, mesmo que superficial, olhar sobre os dados constantes na tabela abaixo. A comparação dos dados da realidade de então com os próximos dos nossos dias poderá ser fator de uma melhor compreensão do que a ‘Revolução do Cravos’ trouxe ao domínio educativo nacional e, consequentemente ao do nosso concelho.

Se a nível nacional se reportam tais dados, importa ver, de seguida, até que ponto, no nosso concelho, as dinâmicas foram mais ou menos idênticas, mais ou menos diferentes, mais ou menos específicas.
Olhando para o concelho de Guimarães, constata-se que, no que ao ensino público diz respeito, contávamos, à altura da ‘Revolução’, apenas com a existência da Escola Industrial e Comercial, hoje Escola

Francisco de Holanda, do Liceu Nacional de Guimarães, hoje Escola Secundária Martins Sarmento, e do Ensino Preparatório, que funcionava no Mosteiro de Santa Clara, para além das escolas primárias existentes nas freguesias, sendo que grande parte delas apresentava duas ou mais escolas primárias, algumas com regime duplo. O ensino privado tinha a sua expressão num Colégio ligado à arquidiocese, o Colégio Egas Moniz, e em dois colégios femininos: o de Nossa Senhora da Conceição e o de Vila Pouca. A educação pré-escolar era inexistente, ou a existir, estava nas mãos de instituições particulares, sem educadores ou pessoal devidamente habilitado. Apresentava um caráter mais assistencial do que propriamente educativo. Eram o que costuma designar-se por ‘guarderias’ de crianças.
Do 25 de Abril aos nossos dias
Quem, como eu, viveu a realidade educativa em Guimarães, e no país em geral, e a vive ainda agora, nota, desde logo, uma diferença abissal, não só no número e qualidade dos estabelecimentos de ensino, como também na oportunidade de acesso aos mesmos, para além da equalização de direitos dos estudantes. Desde logo pela criação de um instituto de ensino Médio, a Escola do Magistério Primário e de uma nova escola Secundária a Escola da Veiga, sem esquecermos, como óbvio se torna, da implementação do polo da Universidade do Minho, facto que, em meu entender, não dignificou propriamente o estatuto educativo de Guimarães, que bem merecia uma universidade autónoma com valências educativas e tecnocientíficas específicas às necessidades do concelho. Não sou dos que se contentam com o ‘do mal o menos’. Acho que há realidades a que não podemos alhear-nos, nem tão pouco, como vem sendo usual, alienar os nossos mais lídimos direitos face a interesses de uma pretensa e antidemocrática centralidade, a interesses travestidos de racionalidade estruturante, mas, de facto, expressão cabal de incompetência e de cedência partidocrática.
Há uma realidade que me parece incontornável: Guimarães, após o 25 de Abril, perdeu oportunidades ímpares, fez cedências nem sempre entendíveis, a não ser pelos compromissos inerentes à bafienta partidocracia que cedo começou a instalar-se nas cadeiras do poder. Fomos e somos um concelho que após o 25 de Abril quase nunca soube aproveitar as enormes sinergias da nossa gente e dos nossos recursos, face à força de outras sinergias, onde o ‘maquiavelismo político’, tantas e tantas vezes travestido de racionalidade, quase sempre imperou. Jamais tivemos dirigentes políticos capazes de encarar as sinergias do concelho como efetivos motores de recursos socioeducativos, a reclamar, como vozes troantes dos sentimentos de toda uma população. A tibieza de atitudes, revestida tantas e tantas vezes de partidocracismo, gangrenou

definitivamente as reais sinergias do concelho, as lídimas vozes de uma população que merecia bem muito mais.
Mas vamos deixar-nos destes desabafos e analisar as efetivas e reais estruturas educativas que ‘Abril’ trouxe para a transformação do concelho. Diversas foram tais estruturas. A umas foi já feita referência, outras, terão a sua oportunidade mais à frente. Mas se quisermos, num relâmpago narrativo sintetizar o quadro transformativo poderemos equacioná-las num quadro sinótico, correndo consciente e antecipadamente o risco de pecarmos por defeito e omissão, quiçá mesmo, por alguma ligeireza, quase sempre idiossincrática aos resumos, às sinopses e análises globalizantes
Quadro I. Estruturas educativas Relevantes no processo educativo que Abril trouxe a Guimarães
Ensino Superior Polo UM
Ensino Médio
Secundário
Níveis de Ensino
Preparatório
Ensino Básico
Educação de infância
Outras estruturas
Magistério Primário
Escolas Secundárias
Escolas EB 2-3
Escolas Eb1
Jardins-de Infância e Creches
Instituições de Assistência a idosos e pessoas com necessidades educativas e assistenciais
Qualquer destas estruturas educativas, fruto do papel de Abril, deixou e vai deixando em Guimarães indeléveis e incontestáveis marcas, facilmente detetáveis, porque evidentemente visíveis.
Por isso, e encarando todo o processo educativamente transformacional do 25 de Abril em Guimarães, creio não estar longe de uma leitura de toda esta narrativa, se afirmar que o efetivo ‘nó Górdio’ da ‘revolução dos cravos’ assentou primordial e essencialmente na implementação e tendencial universalização da educação de infância. Recorde-se, a propósito, que à altura da ‘revolução de Abril’ a educação de infância era praticamente inexistente e a que existia estava praticamente nas mãos de instituições assistenciais ou particulares e não apresentava, nem de perto, nem de longe, as caraterísticas educativas e pedagógicas do que rigorosamente poderíamos denominar de educação, antes pautando as suas práticas numa dimensão essencialmente assistencial. Não existia à altura pessoal docente pedagógica e cientificamente preparado, nem tão pouco projetos educativos devidamente alicerçados para o desenvolvimento de uma efetiva educação pré-escolar. Os muito poucos educadores de infância devidamente habilitados eram raros e haviam-se

formado no estrangeiro, já que em Portugal não havia ainda escolas específicas para tal formação.
Hoje, a educação pré-escolar, de acordo com a Lei de Bases do Sistema Educativo, é parte integrante do sistema educativo português, que não do sistema escolar, refira-se e realce-se com o devido ênfase, constituindo mesmo a base de todo o processo educativo ao longo da vida dos cidadãos, como refere a própria Lei.
Face à inexistência de instituições educativas para a infância e perante as dificuldades inerentes à implementação do processo de transformação educativo implícito nas sinergias da revolução, foram muitas vezes as Comissões de Moradores e/ou Associações Recreativas e Culturais quem acabou por dinamizar muitos dos Jardins-de-Infância, que paulatinamente proliferaram por esse país fora. Guimarães não foi exceção. Que o diga o CICP (Centro Infantil e Cultural Popular) nascido ali no convento das Domínicas, por ação dos moradores do Bairro Catarina Eufémia e da Rua D. João I, a que se juntou o contributo e supervisão pedagógica do Magistério Primário de Guimarães. O impacto sociocultural do CICP, enquanto expressão da vontade popular e do sentimento de um povo, foi de tal ordem que cineastas estrangeiros, nomeadamente alemães, o eternizaram em filmes e documentários.
Outra dádiva de Abril para o nosso concelho, que não podemos de modo algum ignorar, e que referenciamos no Quadro I, foi o Magistério Primário de Guimarães. Com funcionamento a partir do ano letivo de 1974/75, apresentou-se, durante quase uma década, como centro de formação de centenas de professores do primeiro ciclo do ensino básico, tornando-se uma referência do Ensino Médio no concelho. A sua extinção deu-se com a promulgação do Decreto-Lei n.º 101/86 de 17 de Maio, que ordenou o progressivo encerramento das Escolas do Magistério Primário, passando a formação de educadores e professores do ensino básico para as Escolas Superiores de Educação e para os Centros Integrados de Formação de Professores, inseridos nas Universidades.
E, por falarmos em Universidades, porque não referir a importância da implementação do polo da Universidade do Minho, também após o 25 de Abril. Hoje, é um vetor cultural e científico de referência, que nos apraz registar, se bem que continuemos com as reservas, já que não conseguimos entender nunca a relutância em construir então uma universidade própria para Guimarães, com caraterísticas capazes de dar respostas às necessidades idiossincráticas do concelho. Há decisões que, mesmo que eventualmente racionais, não podem pura e simplesmente alicerçar-se em ‘moedas de troca’.
O ensino Básico mudou radicalmente. Se no que respeita ao primeiro ciclo, diversas escolas foram progressivamente encerradas por falta de alunos, o segundo e terceiro ciclos viram nascer novas escolas, viram

os principais polos populacionais ser dotados de tais estruturas educativas, num processo de universalização e equalização educativas, efetivo apanágio dos ideais de Abril. A Escola João de Meira, por exemplo, comemora agora os seus 50 anos, afirmação inequívoca da influência das ideias de Abril.
Mas se Abril, nas suas janelas abertas para a educação, algo afirmou desde o início foi o princípio diversas vezes reiterado de que a educação é a base da cidadania e, como tal, tem de começar na infância, pois é nesta fase que o homem se constrói. É nos primeiros 1500 dias de vida que o nosso cérbero se constrói, que a bases da nossa futura identidade é delineada. Ignorar tal importância, que as neurociências hoje revelam e reiteram, é negar Abril, cujas sinergias educativas apontaram desde sempre para um processo, que tivesse como alicerce de todo o edifício educativo as sinergias da educação de infância, de modo a que os futuros cidadãos desenvolvessem adequadamente as competências socioeducativas, que lhes sustentariam o seu perfil de futuros cidadãos livres, autónomos e responsáveis. Esta dimensão de Abril, doa a quem doer, é uma afirmação de cidadania, de Liberdade, de Igualdade.
Por isso, e por muito importante que tenham sido os papéis da implementação do ensino Médio, através do Magistério Primário, que teve um impacto de dimensões ímpares para o concelho, por mui profícua que tenha sido a implementação do polo da UM, a implementação, com tendência universal, da educação de infância foi uma dádiva de Abril cuja importância, para mim, se apresenta hoje como a mais estruturante, a educativamente mais impactante.
A educação de infância, cuja importância hoje ninguém contesta, não pode de modo algum ser desvinculada dos princípios democráticos de Abril. Apesar de já preconizada na reforma de Veiga Simão é essencial e efetivamente uma dádiva de Abril. Dádiva que, como se referiu, encontrou muitas vezes a sua operacionalização inicial nas dinâmicas e sinergias ‘revolucionárias’ de Comissões de Moradores, Associações Culturais, ou outras instituições socioeducativas, independentes do Governo e do próprio poder local. Era a dinâmica de um ‘povo’ que mais ordenando, procurava encontrar soluções imediatas para as suas necessidades, para a educação dos seus filhos, sempre na esteira de Abril.
A educação de infância foi-se consolidando cada vez mais como uma efetiva realidade educativa, como um dos mais lídimos legados de Abril. Hoje é um legado com que convivemos no nosso dia-a-dia, mas cuja importância jamais podemos esquecer e, sobretudo, olvidar a sua verdadeira génese, que foram as sinergias educativas emergentes do e no crisol dos ideais de Abril.
Em todo este vasto e complexo processo, nem tudo foram rosas, nem sempre os cravos resistiram ao

‘sequeiro’ social. A população começou paulatinamente a decrescer, a natalidade a diminuir, o que acabaria por alterar os paradigmas da consistência da modernidade. Mas o mais grave de tudo, é que se tais paradigmas se iam paulatinamente alterando no pós-25 de Abril, cedo tomaram rumos assustadores, fazendo com que hoje todo este panorama apresente vertentes e dimensões efetivamente inquietadoras.
Se atentarmos, por exemplo, nos dados da carta educativa do concelho constatamos que o número de nascimentos registados, em 1976, era de cerca de 3.600, sendo que, em 2016, se aproximaria dos mil e, provavelmente hoje, nem para lá se encaminha. São, nada mais nada menos, do que 2.600 nascimentos. É um dado efetivamente constrangedor e que acaba por ter reflexos inevitáveis no processo da dinâmica educativo

Fig. 1. Natalidade no concelho

Fig. 2. Alunos matriculados no ensino público
Mas não foi só a baixa demográfica quem contribuiu para a mudança da panorâmica da educação em Portugal e no nosso concelho. Há todo um conjunto de fatores sociais, económicos e políticos que se conjugaram no sentido de dar resposta a novas exigências por parte das famílias, que se uniram para uma efetiva contextualização da educação face aos novos paradigmas que a sociedade ia apresentando.
Olhando, por exemplo, para os dados da carta educativa do concelho, que compara a evolução educativa entre os anos de 1998 a 2017, notamos desde logo um conjunto de tendências a assinalar, sendo que a primeira, como referimos, é a diminuição da natalidade. A leitura dos dados da figura 1 evidencia com clareza que há um notório decréscimo neste domínio, o que acaba por, a seu tempo, ter evidentes reflexos e impacto na população estudantil, como nos revelam os dados da figura 2.



Hoje, Guimarães apresenta um espectro educativo que, na sua essência, não parece diferir muito do resto das regiões com a mesma idiossincrasia e dinâmica sociopolítica. Assim, e no que ao ensino público diz respeito, constata-se a existência de 14 agrupamentos de escolas, pelos quais se distribuem 7 jardins de infância, 53 Escolas EB1/JI, 28 Escolas EB1 e três escolas secundárias. Tudo isto para servir uma população

Fig. 3. Agrupamentos de Escolas (à esquerda); Jardins-de- Infância (ao centro); Escolas EB1/J.I. (à direita) - (Fonte: portal da CMG)
residente que se cifra, neste momento, em cerca de 160 mil habitantes, dos quais cerca de 82 mil fazem parte da população ativa e com um índice de cerca de 13,6% com mais de 65 anos e um índice de envelhecimento a rondar 87,3%.
É uma panorâmica deveras positiva, à qual não tem sido alheio o empenhamento da autarquia, agora com responsabilidades partilhadas com o Ministério da Educação.
Mas nem tudo foram rosas neste processo. Os responsáveis pela governação do Município deixaram ignobilmente que o concelho perdesse uma mais-valia educativa que foi a Escola de Enfermagem. Criada pelo Decreto 569/73, de 30 de outubro, esta mais-valia socio educativa, estranhamente (ou não!...) nunca encontrou apoio nos governantes concelhios. Era um direito legal que nos assistia, mas que jamais foi reclamado, como se de uma banalidade se tratasse. Aquando da minha passagem pela Assembleia da República e com o total e incondicional apoio do então Governador Civil, Dr. Fernando Alberto, ainda reuni duas vezes com a então ministra da Saúde, Dr.ª Leonor Beleza, no sentido de desbloquear o processo e dar início à respetiva implementação, dando assim cumprimento a uma prescrição legal e, acima de tudo e sobretudo a um legal direito dos vimaranenses. Na Assembleia Municipal, por três vezes abordei o assunto, solicitando o

indispensável empenho da edilidade. A indiferença sentida, o constante ‘mandar para canto’ da questão, sempre com a desculpa de que era um processo difícil e complexo, desde logo deixou divisar no horizonte plausíveis conluios e compromissos com outras instituições, minimizando claramente os mas lídimos interesses do concelho, desprezando a legalidade que nos assistia. Afinal, e porque não houve vontade política, a Escola de Enfermagem foi para uma cidade vizinha. Foi uma joia socioeducativa que se deitou fora. Quem ficou a perder, quer se queira, quer não, foi pura e simplesmente Guimarães. Outros, como quase sempre, aproveitaram e ganharam, e com que proveito, diga-se a propósito.
Hoje, a educação coloca-nos desafios impensáveis em 1974. Então, raiavam no horizonte os primeiros luzeiros da pós-modernidade. O ‘zeitgeist’, que configura o contexto sociocultural de cada época e sociedade, acabou por engendrar em si próprio sinergias que despoletaram novas perspetivas educativas, onde as neurociências começaram a pautar bem mais amplas dimensões e perspetivas. Enquanto, em 1974, a grande preocupação educativa era a ‘massificação’, a universalização do ensino, hoje, postula-se a importância da primeira infância enquanto verdadeiro ‘scaffold’, efetivo suporte da educação ao longo da vida.
As neurociências têm vindo a comprovar a importância dos cinco primeiros anos de vida como alicerce estruturante do perfil futuro do indivíduo. Ao nascer, trazemos connosco cerca de 250 biliões de neurónios, que, na idade adulta, se reduzem a 86 biliões. Nos primeiros anos de vida, o córtex do cérebro da criança é um verdadeiro ’predador’ dos estímulos advindos dos sentidos; é praticamente um livro aberto às interações do meio, numa indesmentível ‘exuberância sináptica’ que, como refere Houzel (2011), chega a produzir o dobro das sinapses para o mesmo número de neurónios do adulto, num processo evolutivo e de permanente (re)construção das redes neurais, até cerca dos 30 anos.
Se assim é, como as neurociências o comprovam, a educação de amanhã não pode ignorar esta ‘exuberância sináptica’, não pode fazer ouvidos moucos a essa enorme capacidade do nosso cérebro que é a ‘plasticidade cerebral’, não pode passar ao lado dos ‘momentos críticos’, verdadeiras janelas abertas ao desenvolvimento, não pode alhear-se desse potencial enorme do cérebro, que é ‘poda sináptica’.
Como, a propósito, refere aquela consagrada neurocientista, é precisamente no fim da infância que o cérebro começa efetivamente a moldar-se, a ‘podar’ os neurónios menos utilizados, numa progressiva diminuição da massa cinzenta. O cérebro, na sua capacidade de plasticidade neural é um verdadeiro escultor do nosso desenvolvimento, numa permanente procura do nosso bem-estar e sobrevida, na procura dos alicerces da nossa identidade. Tal processo começa na infância e ignorar a sua importância nesta fase evolutiva,

para além de crassa ignorância, é um atentado socioeducativo às gerações futuras, ao futuro da sociedade.
Significa isto, e em duas simples penadas, que a educação de infância, nomeadamente a creche, tem de ser encarada com outros olhos. Educadores e ‘assistentes operacionais’ têm de ser detentores de uma educação específica. Não basta a habilitação mais comum nessas instituições em nossos dias, a ‘cunha do presidente da junta, do vereador, ou do partido. Deixemo-nos disso. O processo educativo em contexto de creche é demasiado importante para nos perdermos em atitudes dessas, para continuarmos a cultivar a bafienta práxis do nepotismo. É o futuro do indivíduo que está em causa; é o futuro da sociedade que se equaciona naquele contexto educativo. Ignorar isso, continuar preso a práticas de nepotismo, de partidocracia, que nos transportam para os paradigmas de antes do 25 de Abril, é pura e simplesmente negar o legado de Abril, liminarmente amarfanhar e sufocar as sinergias da ‘revolução dos cravos’. Um dos legados educativos de Abril foi a transparência, o fim das ‘cunhas’ e nepotismo institucionalizados. Potencializemos efetivamente tal legado no quotidiano dos bastidores dos decisores, cerdos de que, ao fazê-lo, mais não estamos do que a regar as raízes dos cravos de Abril.
A educação é um processo dialético, numa permanente metamorfose entre as sinergias advindas do ‘zeitgeist’ e as contradições que o mesmo acaba por gerar no crisol das dinâmicas de um quotidiano contextualizado e contextualizante. Ter a coragem de enfrentar sem tibiezas tal desafio é, em meu entender, ir de encontro ao verdadeiro legado socioeducativo de Abril; é ter a mente preparada para desafios educativos que tudo poderão fazer, menos ignorar os contributos das neurociências no processo educativo de hoje e de amanhã. Saber ler o desafio das linhas do amanhã, mais que qualquer legado, é uma exigência, que, idiossincraticamente, faz transparecer o perfume da educação, do bem-estar e do progresso, imersos em cada uma das pétalas dos cravos de Abril.
Referências
Houzel - Herculano, S. (2005). O Cérebro em Transformação. S. Paulo: Objetiva.
Lei 5/73 de 25 de julho
Stoer, S.R. (1986). Educação e mudança social em Portugal: 1970-1980, uma década de transição. Porto: Afrontamento


A Justiça à Justiça ou a Justiça por fazer
César
Machado
Na celebração dos 50 anos de 25 de Abril é oportuno recordar que nunca foi convenientemente feita justiça à justiça anterior a Revolução. O que se passou nos tribunais plenários durante décadas e décadas foi um claro e repetido atentado às mais elementares regras da justiça penal.
Houve responsáveis, obviamente. Desde logo o criador, Ministro da Justiça de Salazar, ainda que a mando deste - Cavaleiro Ferreira, Professor na Faculdade de Direito de Lisboa, jurista de serviço do regime. Em 1945, num tempo de final de guerra com vitória das forças democráticas, empreende manobra estética ao sabor dos novos ares, substituindo os Tribunais Militares Especiais –já carregados de tropelias- pelos Tribunais Criminais Plenários de Lisboa e Porto, destinados a julgar crimes de natureza política. Os juízes militares dariam lugar a juízes “civis”, procurando-se uma imagem mais “civilizada” dos próprios tribunais. Nada melhorou. Da mesma fonte e pela mesma ocasião emana decreto que faria substituir a PVDE pela PIDE, Polícia Internacional e de Defesa do Estado, parceira dilecta daqueles tribunais. Nada mudaria para além do novo nome que ainda um dia, em 1969, Marcelo Caetano trocaria por Direcção Geral de Segurança. Nenhuma diferença quanto à substância. Tudo ficaria igual... quando não pior.
Ninguém desempenhou funções nos plenários por vontade de terceiro. Concorria-se voluntariamente para tais cargos e todos os que participaram naquelas farsas judiciais como juízes ou procuradores fizeram-no por vontade própria. Durante anos, centenas de "sujeitos processuais", para usar um eufemismo posterior, tomaram parte em simulacros de julgamentos que, em boa medida, se traduziam em dar como provados os factos que a “instrução” realizada pela polícia política levava a juízo, as mais das vezes à custa de confissão. Como eram obtidas as confissões? A tortura não era coisa desconhecida. Mas ir por esse caminho, colocar em causa as provas era considerado desrespeito, quer pelo tribunal, quer quanto pelas polícias que tão zelosamente cumpriam as suas funções. As regras do arbítrio e prepotência do mando que tornaram os combates judiciais absolutamente desequilibrados imperaram por longos anos com total impunidade.
Alguma vez se fez justiça a esta justiça? A quem a protagonizou? Na verdade, não. E em alguns casos,

para se fazer o que se fez, melhor teria sido não ter feito nada. Não são conhecidas consequências dignas desse nome relativamente aos que fizeram de magistrados naqueles tribunais de má memória. Neste nosso país de brandos costumes foi possível continuarem as suas carreiras tranquilamente. Nada de ressentimentos. Não que se defenda qualquer vingança, não é disso que se trata. Está em causa a memória. E o respeito devido às vítimas.

Quanto aos julgamentos dos agentes da PIDE, muitos casos transformaram-se em verdadeiras ofensas aos antigos presos que se prestaram a testemunhar contra os carrascos e torturadores. De vários se ouviu terem-se sentido, eles próprios, acusados, réus numa segunda farsa em que os pides faziam valer a sua verdade -a do verdugo- contra a da vítima perante a impassividade de quem julgava. E muitos recusaram-se a continuar a participar em tão humilhantes sessões. Confessaram uma humilhação que desta vez já não era suportável. Em tempo de ditadura tinham percebido, apesar de não aceitarem. Em tempo de democracia era uma infâmia que só poderiam recusar, ainda que a custo, com dor e revolta. Uma história que também ficou por fazer.
Muitos advogados escreveram páginas de ouro nos anais da advocacia portuguesa nos julgamentos políticos realizados antes do 25 de Abril. Muitos conheceram as prisões na sequência desses julgamentos ou de corajosas posições que tornaram públicas.
A memória destes advogados e daqueles presos merecia mais. E também a dos restantes. Um dos pilares essenciais do regime, que tornou tão duradoura a ditadura, foi o judicial. Foi este “braço” que ratificou, com a sua benção, todos os desmandos policiais e os arbítrios e prepotências do regime. É imperioso não esquecer. É da memória e do respeito às vítimas que se trata. É o respeito a nós mesmos. Esquecimento não! Para que nunca mais.


O 25 de Abril e o Serviço Nacional de Saúde
José Alberto Marques50
O 25 de Abril de 1974 entranhou-se na vida dos portugueses, que no dia da revolução dos cravos saíram à rua com alegria, saudando a queda da ditadura e celebrando a conquista da liberdade, devolvida ao Povo pelo movimento dos Capitães. Assim começou há 50 anos o processo democrático do nosso país...!
Das transformações que se seguiram, queremos destacar, desde logo uma nova Constituição aprovada nem 1976, cujo artigo 64.º dita que todos os cidadãos têm direito à proteção da saúde e o dever de a defender e promover... De facto, ano após ano, foram-se reforçando os valores da revolução de Abril, que consolidaram a democracia, a liberdade e permitiram a evolução da vida social e económica e a melhoria da qualidade de vida dos Portugueses.
A Saúde é, e sempre foi, a primeira preocupação e expectativa das pessoas! Até à criação do SNS estava distante ou era mesmo impossível para a maioria dos cidadãos! Antes do 25 de Abril, a saúde estava a cargo das famílias, das instituições privadas ou da previdência. A maioria das pessoas eram pobres e com pouca ou nenhuma escolaridade. Não havia disponível um Serviço de saúde universal, nem hospitais polivalentes, nem médicos e demais profissionais de saúde suficientes e disponíveis para todas as regiões do país, possibilitando o acesso à saúde a todos os portugueses. As condições económicas de cada um determinavam as possibilidades de acesso à saúde, a tratamentos, cirurgias, hospitalizações ou quaisquer meios de diagnóstico. Quando doentes, as pessoas que não tinham qualquer apoio público, diziam: vão-se os anéis, ficam os dedos...
Nestas desfavoráveis condições assistenciais e económico-sociais, resultavam os piores indicadores de saúde da Europa, com taxa de mortalidade infantil mais de duas vezes superior à média europeia, mortalidade precoce acentuada, com esperança média de vida inferior a 70 anos, ou situações como a de que um terço dos partos não tinha nenhuma espécie de assistência, com elevada mortalidade infantil e materna,
50 MD, PhD Program, Escola de Medicina, Universidade do Minho

particularmente nas zonas interiores de Portugal…
O Estado não desenvolvia atividades de promoção da saúde individual e coletiva. As condições sanitárias e habitacionais eram péssimas. A continuada má situação de saúde de Portugal, havia justificado o início do plano de vacinação, em 1965, e o funcionamento de centros de saúde materno-infantis em 1972. À data, discutia-se “ingloriamente” a necessidade de melhoria do sistema assistencial no país.
Ora, com a revolução de 25 de Abril de 74 foram criadas novas condições políticas e sociais que vão permitir a criação do Serviço Nacional de Saúde, em 1979, em cumprimento da Constituição da República de 1976.
Em 1974, novos horizontes e vontades se abriram, muitos políticos, médicos e outros intelectuais regressaram a Portugal e com eles se acelerou a discussão do que seria possível fazer para mudar a má situação de Saúde em Portugal.
Antes da criação do SNS, em 1979, os jovens médicos foram obrigados a trabalhar nas zonas periféricas, no Serviço Médico à periferia, sendo a primeira oferta de cuidados públicos, em muitas zonas interiores do país, e muito bem acolhida pela população!
Sabia-se dos bons resultados que o Serviço Nacional do Reino Unido e de outros países haviam proporcionado aos cidadãos e a consequente melhoria da situação de saúde nesses países. A experiência internacional dos modelos Alemão e Inglês era conhecida, bem como as respetivas características estruturais.
A situação económico-social precária, com muito baixa escolaridade e baixo rendimento da população portuguesa, aconselhavam a opção pelo modelo universalista, completo, aplicável a todos os cidadãos e gratuito, como era o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS).
Assim, o direito constitucional que o 25 de Abril de 74 abriu efetivou-se através da criação, em 1979, de um Serviço Nacional de Saúde (SNS) universal, geral e gratuito. O SNS envolve todos os cuidados integrados de saúde, compreendendo a promoção e vigilância da saúde, a prevenção da doença, o diagnóstico e tratamento dos doentes e a reabilitação médica e social. O SNS engloba vários formas de melhoria da qualidade da Saúde 2, nomeadamente, saúde materna e infantil, planeamento familiar, vacinação, saúde de adultos e idosos e cuidados continuados e, em geral, o acesso atempado aos cuidados de saúde. Foram implementadas políticas de saúde orientadas para garantir o direito constitucional à Saúde, alocando médicos, enfermeiros e outros profissionais e recursos humanos para o atendimento nos cuidados primários e hospitalares de diversos níveis, e para a Saúde Pública. Também os equipamentos adequados às atividades de Saúde, Centros

de Saúde e Hospitais foram melhorados ou construídos de novo.
Em termos históricos, passados 45 anos desde a criação do SNS, pela chamada Lei Arnaud, enumeramse alguns diplomas legais sucessivamente aplicados, como:
Em 1976, aprovada a Constituição da República Portuguesa, que, no seu preâmbulo, refere:
“A 25 de Abril de 1974, o Movimento das Forças Armadas, coroando a longa resistência do povo português e interpretando os seus sentimentos profundos, derrubou o regime fascista.
Libertar Portugal da ditadura, da opressão e do colonialismo representou uma transformação revolucionária e o início de uma viragem histórica da sociedade portuguesa.
A Revolução restituiu aos Portugueses os direitos e liberdades fundamentais. No exercício destes direitos e liberdades, os legítimos representantes do povo reúnem-se para elaborar uma Constituição que corresponde às aspirações do país.
A Assembleia Constituinte afirma a decisão do povo português de defender a independência nacional, de garantir os direitos fundamentais dos cidadãos, de estabelecer os princípios basilares da democracia, de assegurar o primado do Estado de Direito democrático e de abrir caminho para uma sociedade socialista, no respeito da vontade do povo português, tendo em vista a construção de um país mais livre, mais justo e mais fraterno.
A Assembleia Constituinte, reunida na sessão plenária de 2 de Abril de 1976, aprova e decreta a seguinte Constituição da República Portuguesa: (…)
Artigo 64.º (Saúde)
1. Todos têm direito à proteção da saúde e o dever de a defender e promover.
2. O direito à proteção da saúde é realizado:
a) Através de um serviço nacional de saúde universal e geral e, tendo em conta as condições económicas e sociais dos cidadãos, tendencialmente gratuito;
b) Pela criação de condições económicas, sociais, culturais e ambientais que garantam, designadamente, a proteção da infância, da juventude e da velhice, e pela melhoria sistemática das condições de vida e de trabalho, bem como pela promoção da cultura física e desportiva, escolar e popular, e ainda pelo desenvolvimento da educação sanitária do povo e de práticas de vida saudável.
3. Para assegurar o direito à proteção da saúde, incumbe prioritariamente ao Estado:
a) Garantir o acesso de todos os cidadãos, independentemente da sua condição económica, aos cuidados da medicina preventiva, curativa e de reabilitação;
b) Garantir uma racional e eficiente cobertura de todo o país em recursos humanos e unidades de saúde;
c) Orientar a sua Acão para a socialização dos custos dos cuidados médicos e medicamentosos;

d) Disciplinar e fiscalizar as formas empresariais e privadas da medicina, articulando-as com o serviço nacional de saúde, por forma a assegurar, nas instituições de saúde públicas e privadas, adequados padrões de eficiência e de qualidade;
e) Disciplinar e controlar a produção, a distribuição, a comercialização e o uso dos produtos químicos, biológicos e farmacêuticos e outros meios de tratamento e diagnóstico;
f) Estabelecer políticas de prevenção e tratamento da toxicodependência.
4. O serviço nacional de saúde tem gestão descentralizada e participada.
(…)”
Três anos após a sua criação, em 1982, é estabelecida a nova carreira médica de Clínica Geral, que surge por via do Decreto-Lei n.º 310/82, de 3 de Agosto, que regula as carreiras médicas (de saúde pública, clínica geral e médica hospitalar). O médico de clínica geral é entendido como o profissional habilitado para prestar cuidados primários a indivíduos, famílias e populações definidas, exercendo a sua intervenção em termos de generalidade e continuidade dos cuidados, de personalização das relações com os cidadãos, sendo que o Despacho Normativo n.º 97/83, de 22 de Abril, aprova o Regulamento dos Centros de Saúde, dando lugar aos "centros de saúde de segunda geração”. Os centros de saúde surgem como unidades integradas de saúde, tendo em conta os princípios informadores da regionalização e as carreiras dos profissionais de saúde.
Em 1990, a Lei n.º 48/90, de 24 de Agosto, aprova a Lei de Bases da Saúde. Pela primeira vez, a proteção da saúde é perspetivada não só como um direito, mas também como uma responsabilidade conjunta dos cidadãos, da sociedade e do Estado, em liberdade de procura e de prestação de cuidados.
A promoção e a defesa da saúde pública são efetuadas através da atividade do Estado e de outros entes públicos, podendo as organizações da sociedade civil ser associadas àquela atividade. Os cuidados de saúde são prestados por serviços e estabelecimentos do Estado ou, sob fiscalização deste, por outros entes públicos ou por entidades privadas, sem ou com fins lucrativos. Para a efetivação do direito à proteção da saúde, o Estado atua através de serviços próprios, mas também celebra acordos com entidades privadas para a prestação de cuidados e apoia e fiscaliza a restante atividade privada na área da saúde. A Base XXXIV prevê ainda que possam ser cobradas taxas moderadoras, com o objetivo de completar as medidas reguladoras do uso dos serviços de saúde. Destas taxas, que constituem receita do Serviço Nacional de Saúde, são isentos os grupos populacionais sujeitos a maiores riscos e os financeiramente mais desfavorecidos.
Apenas 14 anos após, em 1993, é publicado o novo estatuto do SNS através do Decreto Lei n.º 11/93,

de 15 de Janeiro, que procura superar a incorreta - do ponto de vista médico e organizativo - dicotomia entre cuidados primários e cuidados diferenciados. A indivisibilidade da saúde e a necessidade de uma criteriosa gestão de recursos levam à criação de unidades integradas de cuidados de saúde, viabilizando a articulação entre grupos personalizados de centros de saúde e hospitais. A flexibilidade na gestão de recursos impõe ainda a adoção de mecanismos especiais de mobilidade e de contratação de pessoal, como o incentivo a métodos e práticas concorrenciais.
Em 1999, são estruturados os serviços de saúde pública, no âmbito dos quais se integra o exercício dos poderes de autoridade de saúde enquanto poder-dever de intervenção do Estado na defesa da saúde pública, na prevenção da doença e na promoção da saúde. O Decreto-Lei n.º 286/99, de 27 de Julho, que estabelece a organização dos serviços de saúde pública, dita que a implantação se opera a dois níveis: o regional e o local.
Também em 1999, é estabelecido o regime dos Sistemas Locais de Saúde (SLS), através do Decreto-Lei n.º 156/99, de 10 de Maio. Trata-se de um conjunto de recursos articulados na base da complementaridade e organizados segundo critérios geográfico-populacionais, que visam facilitar a participação social e que, em conjunto com os centros de saúde e hospitais, pretendem promover a saúde e a racionalização da utilização dos recursos. Os SLS são constituídos pelos centros de saúde, hospitais e outros serviços e instituições, públicos e privados, com ou sem fins lucrativos, com intervenção, direta ou indireta, no domínio da saúde, numa determinada área geográfica de uma região de saúde. É também estabelecido novo regime de criação, organização e funcionamento dos centros de saúde, através do Decreto-Lei n.º 157/99, de 10 de Maio. São criados, assim, os chamados "centros de saúde de terceira geração", pessoas coletivas de direito público, integradas no Serviço Nacional de Saúde e dotadas de autonomia técnica, administrativa e financeira e património próprio, sob superintendência e tutela do Ministro da Saúde. Prevê-se ainda a existência de associações de centros de saúde.
Passados os primeiros vinte anos, tornou-se evidente que os cuidados primários de Saúde careciam de reorganização e maior capacidade de resposta, tendo por isso sido estabelecida, em 2003, a rede de cuidados de saúde primários (Decreto-Lei n.º 60/2003, de 1 de Abril). Para além de continuar a garantir a sua missão específica tradicional de providenciar cuidados de saúde abrangentes aos cidadãos, a rede deve também constituir-se e assumir-se, em articulação permanente com os cuidados de saúde hospitalares e os cuidados de saúde continuados, como um parceiro fundamental na promoção da saúde e na prevenção da doença.

Esta nova rede assume-se, igualmente, como um elemento determinante na gestão dos problemas de saúde, agudos e crónicos. Traduz a necessidade de uma nova rede integrada de serviços de saúde, onde, para além do papel fundamental do Estado, possam coexistir entidades de natureza privada e social, orientadas para as necessidades concretas dos cidadãos. Volvidos dois anos, este diploma será revogado, sendo repristinado o Decreto-Lei n.º 157/99, de 10 de Maio.
Em 2006, o Decreto-Lei n.º 101/2006, de 6 de Junho, cria a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, visando dar resposta ao progressivo envelhecimento da população, ao aumento da esperança média de vida e à crescente prevalência de pessoas com doenças crónicas incapacitantes.
No desenvolvimento da rede de cuidados primários, designadamente para maior eficiência da Equipa de Saúde Familiar, em 2007, surgem as primeiras Unidades de Saúde Familiar (USF), dando corpo à reforma dos cuidados de saúde primários. O Decreto-Lei n.º 298/2007, de 22 de Agosto, estabelece o regime jurídico da organização e do funcionamento destas unidades e o regime de incentivos a atribuir aos seus elementos, com o objetivo de obter ganhos em saúde, através da aposta na acessibilidade, na continuidade e na globalidade dos cuidados prestados. Um ano após, em 2008, assiste-se a mais um passo importante na reforma dos cuidados de saúde primários, com a criação dos agrupamentos de centros de saúde do SNS, através do Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de Fevereiro. O objetivo consiste em dar estabilidade à organização da prestação de cuidados de saúde primários, permitindo uma gestão rigorosa e equilibrada e a melhoria no acesso aos cuidados de saúde. Esta reforma teve maior adesão inicial, na região Norte do país, o que permitiu que na atualidade o norte tenha a maior cobertura em médicos de família.
Este processo foi prejudicado, á época, por decisões governamentais que perturbaram a melhor evolução deste processo, por exemplo pelo congelamento de carreiras profissionais, deterioração das condições de trabalho de muitos profissionais, com a consequente desmotivação e até abandono de profissionais dos Serviços do SNS. No presente, a reforma dos Serviços de Saúde, pela criação das Unidades Locais de Saúde, visa aproximar, e articular melhor, a atividade dos hospitais e dos Centos de Saúde no plano local. Esperemos que atinja os seus propósitos, nomeadamente pela valorização e maior satisfação profissional dos profissionais envolvidos, e melhor prontidão no atendimento dos cidadãos.
Muitos outros momentos, suportados por legislação própria, guiaram os destinos do SNS. No momento em que se celebram 50 anos do 25 de Abril, é justo reconhecer que o Serviço Nacional de Saúde português está intimamente ligado com o 25 de Abril de 1974, pela oportunidade de acesso equitativo aos serviços de

saúde que o SNS possibilitou e pelas melhorias sociais e económicas associadas em ambiente de liberdade e democracia, tendo-se estabelecido um “estado social“ para melhores condições de vida dos portugueses.
De facto, o SNS foi, e continua a ser, uma oportunidade para uma equitativa acessibilidade à Saúde, garantindo satisfazer as necessidades de saúde de qualquer cidadão, desde a conceção até à morte. Pela prestação dos diversos Serviços de saúde locais, regionais e nacionais concretiza-se o direito à proteção da saúde, a prestação de cuidados globais de saúde e o acesso, de facto, a todos os cidadãos, independentemente da sua condição económica e social, nos termos da constituição. Efetivamente, só a partir da criação do SNS os portugueses passaram a dispor de um sistema que assegura uma cobertura universal, em qualquer geografia do país, a cargo do Estado.
À data, foi uma inovação. "Uma resposta às carências brutais de assistência fora das grandes cidades”. Foi uma constatação da melhoria da situação de Saúde, no país.
Ao longo de 50 anos, a sociedade portuguesa sofreu profundas modificações, quase sempre para melhor. Novos paradigmas, entretanto, surgiram como o envelhecimento acentuado da população e a queda continuada da natalidade, ou dúvidas sobre a sustentabilidade económica, com impacto no processo assistencial, por vezes com limitações no atendimento dentro do tempo clinicamente aceitável.
O SNS suportou grandes dificuldades criadas pelas restrições impostas pelo Memorando da Troika, em 2011, essas dificuldades e obstáculos foram sendo ultrapassados, sendo, muitas vezes, criticados pelos cidadãos os atrasos no acesso aos cuidados de saúde e as limitações no ingresso de profissionais de saúde ou a menor velocidade de decisões sobre investimentos em infraestruturas de saúde, muitas vezes condicionados pelas opções políticas dos governantes, contudo a evolução foi positiva!
Com a liberdade e a democracia que Abril abriu, com trabalho e determinação foram melhorando as condições de vida da população com forte impacto na saúde individual, na saúde das crianças e dos adultos, tendo-se baixado significativamente a mortalidade infantil, com os melhores valores na União Europeia, na atualidade. A Saúde foi, e é, pilar de uma melhor proteção social, a par da democratização da educação, que juntamente com a atividade dos diversos serviços de saúde do SNS possibilitaram uma evolução positiva e sustentada dos indicadores de saúde nas últimas décadas.
O SNS cumpriu e continua a cumprir Abril. É um “produto” inacabado. Cumpre-nos atualizá-lo, resolver estrangulamentos existentes, melhorá-lo e qualificá-lo para continuar a garantir a saúde a todos os portugueses!
50 anos de Abril (1974-2024) - Como ler as mudanças
Raul Rocha


O tema sugerido são as mudanças na nossa Guimarães entre 1974-2024. As mudanças que Abril proporcionou. A análise obriga a olhar, porém, para outros períodos temporais. 50 anos é espaço de tempo suficientemente amplo onde, historicamente, sempre se mudou. Nenhuma sociedade local, nacional, global ficou igual cinquenta anos passados.
Abril, com a revolução, acelerou as mudanças? Possivelmente.
Para ver se assim sucedeu, interessou-me olhar também para os dois meios séculos imediatamente anteriores: 1874-1924 e 1924-1974. Não como investigação histórica ou sociológica, mas como os “olhos” da sociedade, da denominada opinião pública. Os dados que vou referir são, assim, apenas a perceção do cidadão comum, sem o rigor científico de uma investigação.
Tentei não limitar essa leitura a uma área específica. Mas também não era possível ler todas as componentes da nossa vida coletiva, por isso escolhi seis: Economia e trabalho; Educação e cultura; Associativismo e democracia; Costumes e moral; Equipamentos e território; Saúde e Habitação.
Economia e Indústria
No 1.º meio século (1874-1924) há, em Guimarães, não o início, mas a consolidação das indústrias de couros e têxtil, para além da artesanal, muito diversificada. Nesta, a serralharia, a carpintaria, obra de artistas e obreiros individuais. Em 1884, na Exposição Industrial de Guimarães, já a cidade “ocupa o centro de uma larga zona industrial que abrange Fafe, Póvoa Lanhoso, Braga, Famalicão, Santo Tirso, Lousada e Felgueiras”51 .
A Guimarães empresarial com patrões e operários nasce, em 1874-1924. Se a maioria da população ainda está na agricultura, na lavoura, com caseiros e jornaleiros de proprietários rurais, há um florescer de
51 Avelino Silva Guimarães: “A Exposição industrial de Guimarães” em “1884, o ano que mudou Guimarães”.

fábricas, de sindicatos, de greves, dos primeiros mercados exportadores. Do primeiro regresso da emigração dos portugueses do Brasil.
Daí que se possa afirmar que nestes 50 anos há uma mudança substancial da economia e do regime de trabalho. Ainda que a sociedade trabalhadora fosse nas fábricas muito masculina, a feminização do trabalho só sucede no meio século seguinte (1924-1974). As mulheres, no campo, já trabalhavam, mas muito nos serviços domésticos, nas suas famílias ou como serviçais.
Nesse meio século seguinte (1924-1974), há uma estagnação até ao início da guerra, mas a partir do seu início com a neutralidade assumida por Salazar, há a explosão das grandes fábricas e do trabalho operário feminino. Um recuo dos sindicatos que deixaram de fazer greves, mas sim a apologia dos patrões, homens beneméritos que criavam emprego e “davam de comer” aos trabalhadores e aos pedintes, através das obras de benemerência.
É o período da ditadura política, muito vivida na vida económica e nas relações de trabalho. Os sindicatos até aumentaram a sua notoriedade social com a organização de festas de trabalhadores e como escola dos seus dirigentes para quadros políticos do regime, mas abandonaram a vertente reivindicativa. Há um grande crescimento da indústria, consequentemente do emprego, da mulher operária, do salário fixado, pago à semana, com as primeiras contribuições para a previdência social (futuras reformas), a população industrial passa a ser maioritária na sociedade.
Depois de 1974, há uma subida salarial brutal. Primeiro, porque, logo em 1974, é estabelecido o primeiro salário mínimo nacional e o 13.º mês. No Verão de 1974, as famílias compraram os seus primeiros eletrodomésticos e alugaram casa ou quartos na Póvoa. Recorde-se que, mesmo as famílias da classe média só generalizaram a compra do automóvel e dos eletrodomésticos na década de 1960. Na década de 1970, os hoje tão comuns frigoríficos, fogões a gás, esquentadores, aquecedores, máquinas de lavar roupa, entraram em todas as casas, mesmo nas de menores rendimentos. Tal mudou radicalmente o trabalho doméstico. Desapareceram as “criadas de servir” e os lavadouros públicos, por exemplo.
Os sindicatos voltaram à sua função reivindicativa, fazendo grandes manifestações, com desfiles na cidade, mas poucas greves com muita adesão, a relação afetiva e de dependência direta patrão/operário não mudou, mas alcançam novos contratos com a contratação coletiva.
Mas este meio século (1974-2024) não consegue suplantar em valores percentuais o crescimento económico do meio século anterior (1924-1974).

No corrente século XXI, metade do meio século em análise, já não consequência de Abril, mas sim da adesão europeia e da globalização, houve a revolução tecnológica. Os computadores, os telemóveis, todo o mundo digital, mudaram completamente as empresas, os locais onde cada um trabalha, estando a produzir a maior mudança em menos tempo dos períodos em análise.
Mas só foi consequência de Abril, talvez porque foi depois de 1974 que Portugal se abriu ao mundo. Mas seria possível, mesmo sem Abril, continuar fechados?
No 1.º meio século (1874-1924) a população não sabia ler ou escrever. Até 1924, apesar do grande esforço da Primeira República (1910-1926) em “instruir”, não em educar, os resultados foram sempre muito baixos. Havia escolas primárias (do 1.º ao 4.º ano) só em algumas freguesias, do 1.º ao 3.º com cobertura total.
Mas só um/dois alunos por escola, por freguesia, era proposto pelo professor primário, um notável de cada aldeia, a vir à cidade, às escolas centrais, fazer os exames da 3.ª ou 4.ª classe. A grande maioria das crianças que iam à escola, e muitas não iam, no final dos três primeiros anos eram consideradas pelos seus professores não preparadas academicamente. Ou seja, liam mal, não conseguiam escrever sem erros, erravam em contas simples da aritmética.
Os dotados, uma exceção, um/dois por aldeia, iam para o Seminário, para o Convento de Freiras, ou talvez viessem para a cidade para casa de algum familiar, se tivessem um padrinho proprietário sem filhos, tentar prosseguir na Escola Industrial.
Esta era a realidade claramente maioritária.
Claro que havia uma minoria proprietária rural ou com comércio e indústria instalada, mesmo empregada, na cidade, que apoiava a continuação de estudos dos seus filhos.
Esses iam para o Seminário – Liceu. Se os pais vivessem no campo, ficavam internos no Internato Municipal.
Não há mudança muito significativa no meio século seguinte (1924-1974). Só aumentam muito os operários/operárias e os seus filhos vêm para a Escola Industrial em maior número. Em muitos casos só para os cursos noturnos, porque de dia entravam logo aos 10/12 anos no mercado de trabalho. Esta maior frequência escolar é, porém, desigual no género. Os rapazes fazem este percurso. As raparigas muito menos. No final da

4ª classe, foram muito mais para a costura ou para a fábrica. As mulheres não estudavam à noite, até porque às 23 horas, final das aulas, não tinham transporte, os rapazes iam a pé largas distâncias.
Mesmo assim, a Escola Industrial tem o triplo de alunos (chega a 3000) que o Liceu (1000), números anteriores à criação do ensino preparatório (início dos anos 1970).
É só em 1974-2024 que se generaliza o ensino da juventude vimaranense e com crescimentos exponenciais. Primeiro, na década 1970, embora com fugas à escolaridade e trabalho infantil, mais de 97% das crianças completa o 6.º ano, passa a ler, a escrever, a calcular sem erros.
Nas décadas seguintes, esse 6.º ano final passa a ser o 9.º e, hoje, o 12.º ano é o termo da escolaridade obrigatória.
Uma percentagem muito significativa atinge o grau da licenciatura.
Com a criação da Universidade do Minho, a população foi-se tornando cada vez mais qualificada. Mesmo muitos que não tinham continuado após o secundário, regressaram e obtiveram licenciaturas.
É na educação que o meio século (1974-2024) fica a ganhar fortemente aos dois meios séculos anteriores.
Na cultura foi o mesmo, mas diferente.
No primeiro meio século (1874-1924), Guimarães está à frente da outra “província”, fora Lisboa, Porto, Coimbra, por causa da Sociedade Martins Sarmento (SMS).
Embora a SMS tivesse nos seus estatutos, desde a fundação em 1884, o objetivo da “instrução popular”, ela foi sempre um grupo de elite muito qualificada, produtora e investigadora e cultural, mas fechada.
No meio século seguinte (1924-1974), a partir da presidência municipal de Castro Ferreira (1955), com AL de Carvalho e mais tarde Santos Simões, há um alargamento da cultura na Guimarães urbana, em extensão popular. Falaremos disso no tópico seguinte do associativismo.
O CAR, o Convívio, a Assembleia, são criações dessa época.
O grande salto é dado, porém, no meio século seguinte (1974-2024), particularmente a partir da aposta de António Magalhães na requalificação patrimonial e de Moncho Rodriguez e Francisca Abreu na criação cultural.
A Cultura passou a ser marca identitária do território e, hoje, o orçamento municipal tem a cultura como uma das suas fortes componentes, sendo o maior contrato-programa com as suas cooperativas o da “Oficina”, mas o apoio às coletividades culturais tem crescido ano após ano.

Haverá aqui um crescimento exponencial semelhante ao da educação? Longe disso. Se na educação foi a população de todo o território que deu o “salto”, a cultura continua a ser algo apenas das suas “urbanidades”. Não só da cidade, é certo, também das Caldas das Taipas, de Brito, de Pevidém, de S. Torcato, mas das “urbanidades”…
Associativismo e democracia
O período 1874-1924 foi um tempo de vida democrática e de grande vivência associativa quer na cidade e quer nas vilas de Taipas e Vizela. Com elites urbanas profundamente empenhadas na vida cívica, entre 1874 e 1910, vigorou a monarquia constitucional com o rotativismo entre os partidos regenerador e do Progresso, não sendo raras as transferências entre um e outro. Os regeneradores, mais inseridos nos proprietários rurais e na nobreza, os progressistas, nos comerciantes, industriais, licenciados, embora a sua figura liderante fosse o Visconde do Paço de Nespereira, residente na ainda hoje morada familiar da Casa do Proposto, na Avenida de S. Gonçalo.
É certo que só votavam os detentores de riqueza, os homens. O princípio: “um homem, um voto” não tinha aplicação.
Uma intensa vida associativa acompanhava esta intensidade política. Em Guimarães, ainda persistem associações centenárias criadas nessas épocas. A ASMAV ou a Associação Fúnebre. Também existem cooperativas de consumo, de socorros mútuos. Ao mesmo tempo, surgem clubes de recreio como a Assembleia Vimaranense. Não havendo televisão, o convívio separado entre cada classe social era nos clubes e nos sindicatos.
As organizações de trabalhadores eram fortes, tinham fundos de greve para sustentar lutas e forte sentimento de classe.
A República, iniciada em 1910, nada mudou, foi uma continuação do constitucionalismo monárquico. Não há uma alteração de regime político, a democracia restrita às classes económicas, o povo analfabeto não tinha direito a voto, as mulheres também não, mas votavam os ativistas sindicais que sabiam ler e escrever. Até 1924, não há grandes alterações na passagem da monarquia para a república. O Partido Republicano que ocupa o poder é o partido de quem tem dinheiro. O Partido Socialista, de muito pequena implantação, era a organização política dos poucos operários e trabalhadores alfabetizados.
A República restringe até o universo eleitoral porque considerava que o povo analfabeto era dominado

pela Igreja e pelo conservadorismo. A prioridade era a Instrução e só depois viria a democracia para todos.
O período que se segue (1924-1974) corresponde quase à Ditadura Nacional, idealizada e executada por Salazar. Os partidos políticos desaparecem, mas não as associações que passam até a ter um papel substituinte. De clubes de convívio, passam a ter um papel cultural, de debate e de formação no campo das ideias.
Embora só na parte final destes 50 anos, após as “eleições” de Delgado, nascem as associações que marcam a Guimarães de hoje: Cineclube, Convívio, CAR, Assembleia. Todas das elites urbanas.
No restante território só nas vilas das Taipas e em Vizela emergia, desde a monarquia, o associativismo recreativo muito suporte do convívio termal das épocas balneares, quando as Termas eram locais de veraneio de toda a burguesia nortenha, mais que as praias do litoral. Muitas mudanças nesses 50 anos…
No período (1974-2024) regressa a Democracia. Os partidos. As suas sedes passam a ser frequentadas pelos militantes que lá vão diariamente, debatem a política do dia, partilham informações com dirigentes, autarcas e deputados.
As associações, na cidade, começam a perder influência. A “Unidade Vimaranense”, que no período 1971-1974 pretendeu ser uma Federação de associações, encerra, na prática.
Ao contrário da cidade, o associativismo tem um forte crescimento nas freguesias da envolvente do centro e mesmo nas aldeias. Multiplicam-se os clubes desportivos, de recreio e, já no século XXI, os Centros Sociais de apoio à infância e 3ª idade (IPSS).
Até 1974, e desde 1922, o Vitória era o grande clube de todo o concelho. Com a exceção do CC Taipas e do FC Vizela. Praticamente mais nenhum, durante décadas dos períodos anteriores. Só mais a exceção do CO Campelos, onde nasceu a indústria têxtil e o futebol. Depois de Abril, todas as freguesias foram criando os seus clubes.
Esta implantação do associativismo ao longo de todo o território concelhio é a grande mudança dos últimos 50 anos. Com o regresso da política, da democracia, da implantação partidária nas freguesias, esta passou a ser o seu grande suporte.
Provavelmente, sem os partidos das freguesias, o conservadorismo partidário, em Portugal, já tinha mudado.
Costumes e moral
Há 150 anos, em 1874, a moral e costumes eram diferentes em todas as classes sociais. Primeiro, uma

enorme desigualdade entre homens e mulheres, o género feminino era considerado de segunda, subordinado à autoridade do marido, do Pai. A mulher não tinha direitos, não estudava, não escolhia o amor, não tinha emprego, servia a família, o marido, os filhos, e, enquanto jovem solteira, ou já em idade mais avançada quando não contraia matrimónio, ficava na casa familiar ou partia para serviçal, ama, em família de maior posição social, ou “amante” de homens casados.
Todo este ultrajar da mulher era aceite socialmente.
A mulher de todos os níveis sociais não estudava, as meninas das famílias ricas aprendiam francês, bordados e piano para representação social.
O adultério era crime não só moral como jurídico. A mulher era presa, o homem igualmente acusado se fosse alvo de queixa da esposa, contrariamente, era aceite socialmente ter duplas ou triplas famílias com as “amantes”.
O divórcio não existia, pelo que essas situações eram recorrentes.
Este total domínio do homem, o “sexo forte”, na sociedade, nas empresas, nos clubes, na política, na família, nos contratos de arrendamento rural, os chamados “caseiros”, embora depois a mulher agricultora viesse a ter funções nos trabalhos agrícolas, sem salário, contribuindo para o cumprimento do contrato celebrado pelo marido.
A realidade do século XIX estendeu-se pelo século XX, sem mudança. Continuou na República, onde um ou outro caso de emancipação ou rutura da mulher do matrimónio deu origem pela sua raridade a escândalos de imprensa e até à publicação de literatura.
Admitimos que, no segundo período (1924-1974), em pequeníssimas minorias, o respeito pela mulher começasse a mudar. Houve jovens vimaranenses que frequentaram o ensino secundário e até o superior. Houve professoras do ensino primário. Mas, nas associações, as esposas eram colocadas em salas laterais onde conviviam só entre elas. Nos cafés não entravam.
A partir da feminização do trabalho operário, por necessidades de mão-de-obra, as mulheres das fábricas e as meninas da costura começaram a passear na cidade perante os olhos dos homens admiradores e galanteadores do “sexo fraco”.
No campo, o “direito de pernada”, o abuso sexual, do proprietário sobre as jovens rurais, filhas dos caseiros e jornaleiros, era socialmente admitido, até meados do século XX.
Nas famílias urbanas, o pai era o chefe da família, autoridade total perante a mulher e os filhos. Mesmo

os casamentos eram muito encaminhados entre famílias amigas. Em Guimarães, as filhas dos industriais casavam com filhos de industriais. A exceção surgia quando uma jovem de maior beleza, vinda das classes inferiores, surgia e seduzia o jovem futuro empresário. Era a ambição de vida dessas jovens: casar bem. O marido sentia a obrigação de sustentar a família.
Com a entrada no ensino secundário e superior da mulher, o que começa a generalizar-se na 2ª metade do século XX, os encontros e contactos entre jovens de famílias desconhecidas, nomeadamente na vida universitária, mudou esta realidade. Mas até 1974, a generalidade dos casamentos, em Guimarães, ocorreu na comum classe social dos noivos e entre famílias conhecidas. Muitas vezes, vizinhos de bairro, de freguesia, colegas de escola, mas da mesma posição social.
O adultério foi-se alterando ao longo do século XX. Na 2ª metade diminuíram as segundas relações, as “amantes” da Rua Egas Moniz (Rua Nova), com era comum na 1ª metade do século.
Mesmo já na democracia (1974-2024), no início, o salário familiar era conjunto. Os filhos trabalhadores, a mãe trabalhadora, entregavam quanto ganhavam para um bolo comum gerido pelo pai, que distribuía pequenas semanadas para “borgas” aos rapazes, e o montante destinado à alimentação à mãe para gerir.
A liberdade no seio das famílias, a autonomia dos jovens, primeiro sucedeu entre marido e mulher, foi uma enorme mudança, radical mesmo, que sucede a partir da década de 1980. Tão radical que originou um número superior de divórcios que depois recuou.
Hoje, a mulher e o marido convivem em grupos diferentes, ainda sobrevivem os grupos de casais, mas já não em exclusivo.
O homem, a mulher, os filhos rapazes, as filhas meninas, têm autonomia de vida, escolhem os seus estudos, os seus amores, até nas suas relações de género, os seus amigos, os seus horários de saída e recolha à casa familiar, os seus empregos.
Resistem ainda nas gerações mais antigas modelos de vida familiar mais tradicionais, há alguma crítica social aos novos modelos, mas estes já são dominantes.
Abril mudou radicalmente a moral e os costumes.
Equipamentos e território
No 1.º meio século referido (1874-1924), nas aldeias (95% do território do concelho de Guimarães), havia a escola e a igreja. Na cidade (Oliveira, S. Paio, S. Sebastião), a câmara municipal, o Seminário-Liceu, a

Escola Industrial, as escolas centrais, um pequeno tribunal e posto de polícia, a repartição da fazenda e pouco mais.
É dessa época um “Banco de Guimarães” que faliu. Desde aí deixou de haver instituições bancárias na cidade.
Nas vilas de Vizela e Taipas, havia as termas. O território era a cidade, as duas vilas, e perto de 70 aldeias. Havia indústria em Pevidém, Campelos, Vizela, Sande (Garfeiros), Ronfe, e as principais fábricas no centro da cidade.
Apesar de Guimarães ser já um dos poucos concelhos com indústria, a maioria trabalhava na lavoura. Nestes anos do fim da monarquia e de todo o período republicano, a preocupação era o ensino primário, a “instrução”, a construção do “Bairro operário” que nunca se construiu e por aí se ficavam as políticas e os equipamentos públicos.
No 2.º período (1924-1974), o período do salazarismo, ocorreu muita construção pública. O Liceu Nacional, a nova Escola Industrial, o Tribunal da Mumadona, a atual Caixa Geral de Depósitos, os Correios, a Alameda Salazar, destruiu-se o casario envolvente do Castelo para edificar a sua envolvente verde e requalificou-se o antigo quartel do Regimento de Infantaria 20 para o sumptuoso Paços dos Duques de Bragança (residência do Norte do Presidente da República).
Nas vilas de Taipas e Vizela instalaram-se postos de turismo, também na cidade com sede da Junta de Turismo do Local da Penha. Mas o Hospital continuou no velho edifício da Misericórdia, os Serviços MédicoSociais na Praça de Santiago.
Na Habitação, o Bairro da Previdência (Tarrafal) foi a primeira construção em prédios de andares da cidade e habitação pública, os bairros municipal e económico de Urgezes.
A Câmara Municipal esteve instalada, sem instalações próprias, até ao final dos anos 1960 na Casa Martins Sarmento, ao largo do Carmo, num edifício conjunto com a repartição de finanças. As conservatórias estavam localizadas no Tribunal da Mumadona.
Quando Abril chegou e se inicia o período de 1974 a 2024, Guimarães, apesar do grande crescimento da indústria têxtil algodoeira na década de 1960, estava classificado como Concelho rural porque, na cidade, não vivia 25% da população.
Os 90% restantes viviam em freguesias ainda não urbanizadas, embora se estivesse a iniciar a primeira expansão urbana na envolvente. As Quintãs, em Azurém, o Salgueiral em Creixomil/Urgezes/Mascotelos são

as primeiras expansões para fora da cidade centrada no Toural.
Todos os equipamentos de freguesia, desde novas escolas, sedes de junta, centros de saúde, para além das redes de água e saneamento são conquistas de abril. A mais marcante foi talvez a chegada da eletricidade que ainda não abrangia, pelo menos, Gominhães e Leitões.
Por isso, na democracia, houve um acentuar muito significativo da construção de equipamento público: o Multiusos, o Centro Cultural Vila Flor, o Hospital, os Centros de Saúde, as EB 2,3, a Universidade do Minho, o quartel e piscinas dos Bombeiros, até o Estádio D. Afonso Henriques, terminou por fim, 40 anos depois de se ter iniciado a sua construção - um Estádio inacabado, as expansões habitacionais da Costa/Mesão Frio, a primeira opção do Plano Geral de Urbanização de Fernando Távora.
Terá sido, porém, a requalificação patrimonial da zona classificada (centro histórico), no mais completo abandono até aos anos 1990, que marcou a nova Guimarães do século XXI.
Hoje, o concelho tem diferentes “Cidades/urbanidades”. A cidade em contínuo urbano estende-se até Urgezes/Azurém/Creixomil/Costa/Mesão Frio/Mascotelos/Candoso S. Tiago/Fermentões. Também as Caldas das Taipas e toda a sua envolvente claramente urbana. Também Brito, centro da “urbanidade” do Espaço Guimarães até Ronfe; Pevidém que unificou o Vale do Selho.
O Concelho rural passou a ser minoritário no território concelhio. Somente o Vale de S. Torcato, o Oeste (Airão/Leitões), o Sudeste da Penha.
Todo o território tem recebido equipamentos que permitam alguns já falar de cidade – território. Não pensamos assim. As “urbanidades” já ocupam muito mais de metade do território, mas não todo.
A coesão territorial é uma das grandes mudanças dos últimos 30 anos. Em nenhum outro período histórico se caminhou tanto.
Saúde e Habitação
No 1.º período (1874-1924), a única política pública que preocupava os governos, locais ou nacionais, era a “instrução”. Enquanto o país não soubesse ler e escrever, não haveria desenvolvimento.
No Salazarismo, a educação foi abandonada como prioridade, foi o tempo em que se considerava que bastava saber “ler, escrever e contar”. Houve preocupações e execução de obra na habitação pública. Os bairros da previdência espalharam-se pelo país, o hoje Bairro do IHRU, com mil casas em Guimarães, na área Conceição/Feijoeira/S. Gonçalo/Atouguia, foi um projeto todo concebido antes de 1974, embora só

concretizado depois. No Porto, ainda hoje a maioria da população vive em bairros camarários dessa época.
A saúde não era preocupação, pois os médicos “João Semana” assistiam a população mais pobre, a medicina privada com consultas pagas era comum. As cirurgias eram um temor da população pelo seu custo, que tinha de ser suportado pelo doente.
As poupanças eram muito concentradas com o medo da doença. “Tenho que poupar porque pode vir uma doença”, era a grande preocupação da grande maioria da população.
No período democrático (1974-2024) é, ao contrário, a saúde pública, o Serviço Nacional de Saúde (SNS), a grande conquista.
O acesso gratuito a cuidados com custos elevados para o Estado, de tratamentos de saúde universais a todos é a grande conquista de abril.
Mudança radical, inspirada no SNS inglês, já preconizada pelo último Diretor – Geral de Saúde do anterior regime, o médico Arnaldo Sampaio, natural de Gémeos – Guimarães, pai de Jorge Sampaio, mas só avançada e concretizada pelo Ministro António Arnault, Secretário de Estado Mário Mendes, Primeiro – Ministro Mário Soares.
Hoje já ninguém fala em poupar para a doença, deixou de ser uma preocupação.
Ao contrário, a habitação pública não existe. Os 2% de habilitação pública são quase só uma herança do período salazarista, com uma pequena resposta quando do fim das barracas na Grande Lisboa e Grande Porto e que outras cidades, como Guimarães, aproveitaram para construir os bairros da CASFIG, alegando haver “casas abarracadas”.
É o problema mais grave das políticas públicas do país e de Guimarães que se agravou nos últimos 20 anos.
Antes, houve uma política agressiva da banca, com juros bonificados, a 30/40 anos de empréstimos e um investimento imobiliário que respondeu porque havia mercado, pois casais, mesmo só com o salário mínimo, arriscaram a compra de casa própria.
A globalização da economia trouxe, nos últimos 20 anos, a entrada de fundos imobiliários internacionais nesse mercado. A banca, pelas restrições do BCE, deixou de pagar juros de depósitos e, então, a única rentabilidade do dinheiro parado foi no imobiliário.
Construir casa deixou de ser uma resposta social para ser um negócio. Atingiu valores a que mesmo a classe média alta não consegue responder.

O alarme surgiu primeiro em Lisboa e Porto, mas já atingiu Braga e Guimarães.
É o grande desafio das políticas públicas para o próximo meio século (2024-2074).
A casa é o “chão” que sustenta a vida de qualquer família, seja ela monoparental ou numerosa.
O Governo de António Costa chegou a anunciar a ilusão de nos 50 anos do 25 de abril, todos os portugueses terem casa. Foi o seu maior fracasso político.


25 de Abril
Esta é a madrugada que eu esperava
O dia inicial inteiro e limpo
Onde emergimos da noite e do silêncio
E livres habitamos a substância do tempo
Sophia de Mello Breyner Andresen
Sophia de Mello Breyner (1919-2004) escreveu o poema “25 de Abril”, publicado na sua obra “O nome das coisas”, considerando o dia em que se derrubou a ditadura que subjugou um povo pobre, desde 28 de maio de 1926 até ao dia 25 de abril de 1974, como “o dia inicial inteiro e limpo”, não deixando de vincar “onde emergimos da noite e do silêncio”. É óbvio que a palavra noite, para além do seu sentido denotativo, arrasta consigo um sentido conotativo. Facilmente se percebe que a metáfora “noite” remete para o regime ditatorial de António Oliveira Salazar que Sophia, no poema “Data, à memória d’Eustache Deschamps”52 define como
Tempo de solidão e de incerteza
Tempo de medo e tempo de traição
Tempo de injustiça e de vileza
Tempo de negação
Tempo de covardia e tempo de ira
Tempo de mascarada e de mentira
Tempo que mata quem o denuncia
Tempo de escravidão
52 Sophia de Mello Breyner Andresen, Obra Poética II (in Livro Sexto), Lisboa, Caminho, 1991, p. 145

Tempo dos coniventes sem cadastro
Tempo de silêncio e de mordaça
Tempo onde o sangue não tem rastro
Tempo de ameaça
Objetivamente o poema transcrito é um grito de denúncia, como assinala António Moniz em “Para uma leitura de sete poetas contemporâneos”53 . “O último verso de cada estrofe sintetiza os aspetos denunciados nos anteriores, numa progressiva degradação humana: da negação passa-se à escravidão e à ameaça. E o leitor, que se vê confrontado com a sucessão processional de tantos vícios, acaba por não resistir ao efeito retórico de tal progressão rítmica e semântica, aderindo, naturalmente, a um sentimento ambíguo de deceção e revolta ou, pelo menos, de incomodidade interior”.
Sophia foi extremamente corajosa na denúncia política como documenta o pequeno poema que metaforicamente é o retrato de Salazar: “O velho abutre é sábio e alisa as suas penas/A podridão lhe agrada e seus discursos/Têm o dom de tornar as almas mais pequenas”.
Os músicos e os cantores perceberam que as canções funcionavam como consciencialização da opressão e um apelo à resistência. Por isso, Adriano Correia de Oliveira cantou um outro poeta de Abril, Manuel Alegre.
Recorda-se com nostalgia a audição, em estação de radio clandestina, “Trova do vento que passa”54 .
Pergunto ao vento que passa notícias do meu país e o vento cala a desgraça o vento nada me diz.
Mas há sempre uma candeia dentro da própria desgraça há sempre alguém que semeia canções no vento que passa.
Mesmo na noite mais triste em tempo de servidão
53 António Moniz, Para uma Leitura de Sete Poetas Contemporâneos, 1.ª ed., Lisboa, Editorial Presença, 1997, p. 108
54 Manuel Alegre, O Canto e as Armas, 1 ª ed., Lisboa, Publicações Dom Quixote, p. 90

há sempre alguém que resiste há sempre alguém que diz não.
Sophia, cidadã de Portugal e do Mundo, na sua poesia revela preocupações que não se limitam ao seu país, mas a países de outros continentes, como se observa em “Cantata da Paz” que, também deu canção de Francisco Fanhais55 .
Vemos, ouvimos e lemos
Não podemos ignorar
Vemos, ouvimos e lemos
Não podemos ignorar
Vemos, ouvimos e lemos
Relatórios da fome
O caminho da injustiça
A linguagem do terror
A bomba de Hiroshima
Vergonha de nós todos
Reduziu a cinzas
A carne das crianças
D’África e Vietname
Sobe a lamentação
Dos povos destruídos
Dos povos destroçados
Nada pode apagar
O concerto dos gritos
O nosso tempo é
Pecado organizado.
São bastantes singulares a circunstâncias da escrita deste poema56:
55 Sophia de Mello Breyner Andresen, Obra Poética II (in Livro Sexto), Lisboa, Caminho, 1991, p. 71
56 Como se pode ler em https://www.snpcultura.org/sophia_mello_breyner_missa_capela_rato_marca_trasladacao_panteao.html

«A 31 de dezembro de 1968, cerca de 150 católicos entraram na igreja de S. Domingos, em Lisboa, e nela permaneceram durante a noite, depois de o papa Paulo VI ter decidido, no mesmo mês, que 1 de janeiro passaria a ser assinalado pela Igreja como Dia Mundial da Paz.
A iniciativa contra a guerra colonial e de oposição ao regime ditatorial de então, foi vigiada pela polícia política, tendo terminado sem incidentes. Sophia de Mello Breyner escreveu propositadamente para essa vigília a "Cantata da Paz", que ficou conhecida pelos primeiros versos, «Vemos, ouvimos e lemos/ Não podemos ignorar.
Quatro anos depois, nos últimos dias de 1972, ocorreu na Capela do Rato nova vigília de protesto contra o regime, que acabou com a invasão do templo por parte da polícia. Os participantes foram levados para a esquadra e a maioria foi presa.»
Se os poetas de Abril reivindicaram a Liberdade, usaram a sua pena a favor da Paz, demonstrando que a poesia é intemporal e que sem paz não há liberdade, uma vez que a guerra tudo destrói e oprime povos inteiros.
É bem elucidativo o poema “As Mãos” de Manuel Alegre57 .
Com mãos se faz a paz se faz a guerra.
Com mãos tudo se faz e se desfaz.
Com mãos se faz o poema - e são de terra.
Com mãos se faz a guerra - e são a paz.
Com mãos se rasga o mar. Com mãos se lavra. Não são de pedras estas casas, mas de mãos. E estão no fruto e na palavra as mãos que são o canto e são as armas. E cravam-se no tempo como farpas as mãos que vês nas coisas transformadas. Folhas que vão no vento: verdes harpas.
De mãos é cada flor, cada cidade.
Ninguém pode vencer estas espadas: nas tuas mãos começa a liberdade.
Os opositores ao regime ditatorial, sempre se manifestaram contra a guerra colonial, pois pugnar pela
57 Manuel Alegre, O Canto e as Armas, 1 ª ed., Lisboa, Publicações Dom Quixote, p. 221

liberdade era, também, reconhecer aos povos de Angola, Cabo Verde, Guiné, Moçambique e Timor Leste o direito à sua autodeterminação. Nunca é demais lembrar que no programa do Movimento da Forças Armadas (MFA) que a 25 de Abril de 1974 devolveu ao Povo a LIBERDADE, derrubando a ditadura, estava inscrita a descolonização.
Os militares e o povo não queriam mais uma guerra absurda que ia ceifando milhares de vidas e consumia uma boa parte do orçamento de estado. As verbas investidas na guerra bem poderiam servir para a construção de mais e melhores escolas e outras infraestruturas. Os poetas de Abril denunciaram, em tom de lamento, a perda de vidas humanas, como o evidencia o poema-canção de Zeca Afonso “Menina dos olhos tristes” ou o poema de Manuel Alegre, cantado por Adriano Correia de Oliveira “Canção com lágrimas e sol”58 .
Eu canto para ti um mês de giestas um mês de morte e crescimento ó meu amigo como um cristal partindo-se plangente no fundo da memória perturbada.
Eu canto para ti um mês onde começa a mágoa e um coração poisado sobre a tua ausência eu canto um mês com lágrimas e sol: o grave mês em que os mortos amados batem à porta do poema.
Porque tu me disseste: quem me dera em Lisboa quem me dera em Maio. Depois morreste com Lisboa tão longe ó meu irmão de Maio que nunca mais acenderás no meu o teu cigarro.
(…)
Porque tu me disseste: quem me dera em Maio porque te vi morrer eu canto para ti Lisboa e o sol. Lisboa viúva (com lágrimas com lágrimas). Lisboa à tua espera ó meu irmão tão breve.
58 Manuel Alegre, O Canto e as Armas, 1 ª ed., Lisboa, Publicações Dom Quixote, p. 104

Em Portugal, de 1961 a 1974, o tempo foi de dor e morte. Poucas serão as famílias que não choraram a perda de um parente ou de um amigo próximo. De vez em quando, numa aldeia qualquer, soavam os gritos das mulheres em pranto. A causa de tanto choro era a morte de um filho, de um irmão, do marido, do noivo. Estava em Angola, Guiné, Moçambique, na guerra. O triste, comovente e arrepiante espetáculo da partida dos soldados para a guerra é-nos recordado, no romance de Manuel Alegre “Jornada de África” que num processo de intertextualidade cruza a sua narração com o episódio da Praia das Lágrimas de “Os Lusíadas” e com poema “Mar Português” de Fernando Pessoa.
“Na Estação Velha, em Coimbra, as lágrimas abriram grandes sulcos no rosto do pai. De um momento para o outro ficou velho; Sebastião tinha o orgulho físico do pai e daquele dom de inocência nos olhos da cor dos seus. De repente viu as lágrimas e as rugas, os ombros um pouco curvados, o andar mais arrastado. Começou a envelhecer desde a chegada do telegrama: Para Angola e em força. As mães redobram de atividade em suas lidas, preparam roupas, malas e compotas, à noite choram. Os pais sentam-se calados olhando para dentro. Se apanham os filhos distraídos demoram neles o olhar aflito, carne de sua carne, quem sabe se para canhão. E de repente ficam velhos.
Nos cais de Lisboa as mulheres gritam, arrepelam os cabelos, algumas enrolam os filhos nos seus xailes, se pudessem escondiam-nos ao colo, outra vez pequeninos e só delas. Os pais passam em silêncio os dedos pelas fardas, não conseguem quebrar o pudor masculino do gesto e da palavra, mesmo que lhes apeteça agarrar nos filhos e protegê-los com seus braços. Tempo de lenços a acenar, xailes negros, lágrimas, rugas, ó mar salgado, quanto do teu sal.
Vão-se os navios pela barra fora, Lisboa tem suas barcas, lá mais para diante, na praia do Restelo, continua um velho de aspeito venerando, meneando três vezes a cabeça descontente, ó glória de mandar, ó vã cobiça.
Tropas do Quinto Império, embarcam na Mensagem, não n'0s Lusíadas, a cada tempo o seu cantor e o seu profeta, já foi a hora da grandeza, esta é a hora absurda”.59
A guerra colonial não passou indiferente ao poeta Eugénio de Andrade (1923-2003) que no poema “Sobre o Tejo”, concentrando-se num soldado que, sendo anónimo, representa todo um universo de jovens recrutas que partiam para uma guerra absurda, evidenciando bem a atmosfera de tristeza sentida na despedida dos navios de guerra60 .
59 Manuel Alegre, Jornada de África, 1.ª ed., Lisboa, Publicações Dom Quixote, 1989, págs. 178-179
60 Eugénio de Andrade, Véspera da Água, 1.ª ed, Porto, Porto Editora (Assírio e Alvim), 2014, p. 74

Que soldado tão triste esta chuva sobre as sílabas escuras do Outono sobre o Tejo as últimas barcas sobre as barcas uma luz de desterro.
Já foi lugar de amor o Tejo a boca as mãos foram já fogo de abelhas não eram o corpo então dura e amarga pedra do frio.
Sobre o Tejo cai a luz das fardas É tempo de dizer adeus.
Mas o poema que ilustra, de forma bem dramática, os horrores da guerra colonial é “Nambuangongo, meu amor” de Manuel Alegre que deu em canção de Paulo de Carvalho61 .
Em Nambuangongo, tu não viste nada não viste nada nesse dia longo, longo e a cabeça cortada e a flor bombardeada não, tu não viste nada em Nambuangongo!
falavas de Hiroxima tu, que nunca viste em cada homem, um morto que não morre.
Sim, nós sabemos, Hiroxima é triste mas ouve, em Nambuangongo existe em cada homem, um rio que não corre.
Em Nambuangongo, o tempo cabe num minuto em Nambuangongo, a gente lembra, a gente esquece em Nambuangongo, olhei a morte e fiquei nu. Tu não sabes, mas eu digo-te: dói muito.
Em Nambuangongo, há gente que apodrece.
Em Nambuangongo, a gente pensa que não volta
61 Manuel Alegre, Praça da Canção, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 2005, p. 105-106

cada carta é um adeus, em cada carta se morre cada carta é um silêncio e uma revolta.
Em Lisboa, na mesma, isto é, a vida corre.
E em Nambuangongo a gente pensa que não volta.
É justo que me fales de Hiroxima.
Porém tu nada sabes deste tempo longo longo tempo exactamente em cima
do nosso tempo. Ai tempo onde a palavra vida rima com a palavra morte em Nambuangongo.
O nosso nobel da literatura, José Saramago (1922-2010), no poema “Fala do velho do restelo ao astronauta”62, também se insurge contra a guerra e a fome.
Aqui, na Terra, a fome continua.
A miséria, o luto, e outra vez a fome.
Acendemos cigarros em fogos de napalme
E dizemos amor sem saber o que seja.
Mas fizemos de ti a prova da riqueza, E também da pobreza, e da fome outra vez.
E pusemos em ti sei lá bem que desejo
De mais alto que nós, e melhor e mais puro.
No jornal, de olhos tensos, soletramos
As vertigens do espaço e maravilhas:
Oceanos salgados que circundam
Ilhas mortas de sede, onde não chove.
Mas o mundo, astronauta, é boa mesa
Onde come, brincando, só a fome,
Só a fome, astronauta, só a fome,
E são brinquedos as bombas de napalme.
62 José Saramago, Poesia Completa, 1.ª ed., Lisboa, Assírio e Alvim, p. 82

Ora foi a guerra colonial e a fome que obrigaram milhares de portugueses a emigrar, nos anos sessenta do século XX, procurando em França, Alemanha, Suíça e Luxemburgo o pão e paz que o seu país lhes recusava. Por isso, foram muitos os poetas e cantores que deram voz ao sofrimento dos que partiam clandestinamente (era proibido emigrar para a Europa) na senda de melhores condições de vida. São vários os poemas de Manuel Alegre sobre a emigração. Destaque-se, apenas, este “Portugal em Paris”63 . Solitário por entre a gente eu vi o meu país.
Era um perfil de sal
e Abril.
Era um puro país azul e proletário.
Anónimo passava. E era Portugal que passava por entre a gente e solitário nas ruas de Paris.
Vi minha pátria derramada na Gare de Austerlitz. Eram cestos e cestos pelo chão. Pedaços do meu país.
Minha pátria sem nada sem nada despejada nas ruas de Paris.
E o trigo?
E o mar?
Foi a terra que não te quis ou alguém que roubou as flores de Abril?
Solitário por entre a gente caminhei contigo os olhos longe como o trigo e o mar.
Éramos cem duzentos mil?
E caminhávamos. Braços e mãos para alugar meu Portugal nas ruas de Paris.
63 Manuel Alegre, O Canto e as Armas, 1 ª ed., Lisboa, Publicações Dom Quixote, 1989, p. 185

Havia emigração, porque Portugal era um país de profundas desigualdades sociais. A maioria da população vivia com poucos meios, ao contrário de uma reduzida minoria de oligarcas, dona de empresas e herdades, que enriquecia, porque pagava aos seus trabalhadores salários de miséria e tinha toda a proteção do regime político, como espelha o poema-canção “Os Vampiros” de Zeca Afonso (1929-1987)64 .
No céu cinzento sob o astro mudo
Batendo as asas pela noite calada
Vêm em bandos com pés veludo
Chupar o sangue fresco da manada
(…)
Eles comem tudo, eles comem tudo
Eles comem tudo e não deixam nada
A toda a parte chegam os vampiros
Poisam nos prédios poisam nas calçadas
Trazem no ventre despojos antigos
Mas nada os prende às vidas acabadas
(…)
No chão do medo tombam os vencidos
Ouvem-se os gritos na noite abafada
Jazem nos fossos vítimas dum credo
E não se esgota o sangue da manada
Por isso, a Revolução dos Cravos do dia 25 de Abril de 1974 (foi há cinquenta anos) por ter terminado com o país do PROIBIDO e dar esperança ao povo de que era possível ter uma vida melhor, foi saudada, com euforia, por inúmeros poetas como, por exemplo, José Carlos Ary dos Santos (“As portas que Abril abriu”), Manuel Alegre “Abril de Abril”, Sophia de Mello Breyner Andresen (25 de Abril), José Jorge Letria (“O dia da liberdade”), Sidónio Muralha (“Poema de Abril”), José Fanha (“Abril”), Maria da Conceição Vicente (A voz dos cravos). Destaque-se, apenas, o poema de José Gomes Ferreira (1900-1985) “Outra Poesia”
64 José Afonso, Textos e Canções, 3 ª ed., Relógio d’Água Editores, 2000, p. 190

Poesia de solidão vencida
Poesia de liberdade conquistada
(…)
Poesia de revoltas flores
Poesia de Abril
Mas a outra poesia – onde está?
A outra poesia está, por exemplo, em Sophia de Mello Breyner que nunca deixou de acreditar num mundo de paz e de prosperidade para toda a humanidade e que, por isso, nunca abandonou o seu ofício de poeta como o demonstra em “Forma Justa”65 .
Sei que seria possível construir o mundo justo
As cidades poderiam ser claras e lavadas
Pelo canto dos espaços e das fontes
O céu o mar e a terra estão prontos
A saciar a nossa fome do terrestre
A terra onde estamos — se ninguém atraiçoasse — proporia
Cada dia a cada um a liberdade e o reino
Na concha na flor no homem e no fruto
Se nada adoecer a própria forma é justa
E no todo se integra como palavra em verso
Sei que seria possível construir a forma justa
De uma cidade humana que fosse
Fiel à perfeição do universo
Por isso recomeço sem cessar a partir da página em branco
E este é meu ofício de poeta para a reconstrução do mundo.
Como noutros tempos, agora também são precisos poetas “para a reconstrução do mundo”, para repensar a LIBERDADE e voltar a acreditar na PAZ.
65 Sophia de Mello Breyner Andresen, Obra Poética III, Lisboa, Caminho,1991, p.238






Rui Vítor Costa
Quando me preparo, pela vigésima sexta vez, para ir a Paredes de Coura desfrutar do festival de música que acompanho há tanto tempo, telefona-me o Jorge a convidar-me para escrever sobre o 25 de abril. Neste cinquentenário da revolução há, sinto-o, alguma tristeza no ar. Das páginas, artigos e testemunhos dedicados à efeméride, percebo alguma angústia, escusada, acessória, daqueles que acham que “abril” não se cumpriu. Ou porque as novas gerações não dão, hoje, o devido valor ao momento fundador da democracia portuguesa, ou porque não se cumpriram os desejos de ter, plenamente, a paz, o pão, a habitação, a saúde e a educação, da música composta por Sérgio Godinho para o álbum À Queima-Roupa, editado logo após a revolução, ou porque o partido A ou B, antidemocrático, tem uma votação expressiva, tudo concorre para a insatisfação, do meu ponto de vista absolutamente gratuita, e, até, pouco democrática, pois não assume aquilo que uma democracia representa: a diversidade de opiniões e pontos de vista. As virtudes e os erros.
A não ser que quem escreve sobre o 25 de abril estivesse porventura à espera de uma sociedade, em que tudo é paz e amor, como nas antigas brochuras das Testemunhas de Jeová. O 25 de abril cumpriu-se plenamente pela democracia que instituiu, como Portugal nunca havia (até então) conhecido e experimentado. A insatisfação pode ser positiva e provocar a ação, o empenhamento, o compromisso. Mas há uma insatisfação bolorenta, pesada, que vejo plasmada em muitas opiniões, um azedume por uma visão edílica da revolução não concretizada, como se houvesse revoluções perfeitas. E não as há, pois, a ideia de perfeição é, em si, antidemocrática, é em si pesadamente conservadora. O que é “perfeito” para uns não o será certamente para outros. Essa é a nossa natureza, a natureza humana, cheia de gestos grandiloquentes, mas também de mesquinhez e maldade. A virtude das sociedades democráticas é a de se poder contrabalançar todas as correntes, de se perseguir e discutir um caminho, de juntar mais gente à caminhada, mas também o não deixar cair quem escolhe outra direção. Prefiro mil vezes votar e escolher o meu representante imperfeito, do que adular passivamente homens ou mulheres providenciais em quem ninguém votou. As imperfeições

da democracia têm a ver com as nossas próprias imperfeições e isso é, pelo menos para mim, reconfortante. E o 25 de abril deu-me, desde muito cedo, essa importante (mesmo que imperfeita) possibilidade.

Zeca no concerto do Jardim da Sereia, em Coimbra. 26 de maio de 1983. Fonte: CM Coimbra.
O 25 de abril foi a única revolução que eu conheço (fica a ressalva) que se pôs em marcha através da música. Para o alerta primordial soou o belíssimo tema de Paulo de Carvalho E depois do Adeus, e depois, para o avanço decisivo, a Grândola, do Zeca, cuja música apreciaria bem mais tarde do que naquele dia, chegando a vêlo, em Coimbra, em 1983, quando a doença já dele tomara conta. Entretanto, a 25 de abril de 1974, preparava calmamente a saída para a minha aula da quarta classe. A terra da fraternidade não tinha atingido (ainda) os meus ouvidos, mas por aqueles dias, e mesmo antes deles, cantarolava alegremente aquela melodia impecável tu vieste em flor/eu te desfolhei/tu te deste em amor/eu nada te dei. Eu não sabia exatamente o que aquilo queria dizer, o que aquilo sugeria, mas parecia-me bonito, parecia-me intenso como o bailante amor dos filmes do Fred Astaire, que eu então achava o mais encantador dos amores que se poderiam ter.
Quando eu era pequenino, por alturas de 1974, era frequente que os bonitos rádios que hoje se encontram nas feiras das velharias, sólidos, austeros, utilitários, elegantes, debitassem para o exterior as músicas da altura, enquanto uma mulher vigorosa sacudia os tapetes batendo no parapeito da sua janela e, apesar do decidido esforço em que se investia, não deixasse cair a sua voz no dueto improvável que fazia com a Simone, com a Tonicha, ou, mesmo até, fizesse um trio com o duo mais aliterado da altura: o duo ouro negro. A música da rádio misturava-se nas ruelas e nos bairros cheios de gente. O som da música popular, trauteável, enchia o ar de uma felicidade entrecortada com os tabefes que a canalha apanhava, dos seus, ou de outros

que por qualquer motivo se achavam no direito de os distribuir. A TV, pelo contrário, e assim que o PREC ganhou força, enchia-se de senhores barbudos, de guitarra em punho, a declamar coisas graves e a cantarem como se dessem uma aula. A (tentar) ensinar às massas as virtudes do coletivismo agrário, ou dos novos amanhãs que cantariam se seguíssemos a bandeira vermelha, através de coisas que se diziam canções de protesto. Um paradoxo. Quando Portugal se libertava do cinzentismo da ditadura, acolhia-se na TV pessoal que protestava em loop contra uma realidade que (felizmente) já tinha desaparecido e me aparecia aos meus olhos de criança, tão cinzento e desinteressante quanto aqueles contra os quais protestavam. O futuro não o era: remoía-se, ao enjoo, o passado. Pelo menos até à gaivota, mais propriamente, o Somos Livres, de Ermelinda Duarte, que se colou aos nossos cérebros com a força das supercolas. Depois também enjoou e os adolescentes cozinharam-lhe letras obscenas e imaginativas. Chegamos, entretanto, a um vislumbre do embasbacamento pop: Art Sullivan e Petite Demoiselle arrastaram os adolescentes de então para as lojas de discos à procura de um single, para um encantamento acrítico (hoje tão comum), levemente religioso. Ia jurar que o artista belga chegou a vir a Guimarães, ao A. Gouveia do Toural, para assinar o seu autógrafo nos 45 rotações por minuto que ostentavam a sua cândida face. Não vou jurar porque não fui lá. Teria então uns doze anos, mas, sentia, não poderia manchar (desde logo) o meu futuro gosto musical. Daí que aquela carinha loira, ou mais propriamente o negro do vinil que saía do invólucro quadrado, nunca assentou perto (nem longe) do meu gira-discos.

A música era composta por nichos, ainda o é agora. Existiam as canções que todos conheciam e que passavam na rádio, o meio esmagadoramente maioritário através do qual a música era divulgada e escutada, e existiam os irmãos mais velhos, fonte inesgotável de sabedoria que, por terem mais três ou quatro anos

que nós, pareciam estar num planeta distante ao qual aspirávamos para, pelo menos, percebermos os seus contornos, as suas formas, as novidades que existiam naquelas crateras vulcânicas inalcançáveis. Isso numa altura da minha vida em que, ao contrário de agora, o tempo nunca mais passava.
Como nunca tive um irmão mais velho, pedi-o emprestado aos meus amigos que os tinham. Como as novidades discográficas nunca chegavam a Portugal como chegavam ao centro da Europa, ou aos Estados Unidos, o que era verdadeiramente bom perdurava no tempo como móveis de mogno. Os móveis infelizmente, a música felizmente. Ouvir em 1978, como ouvi, álbuns de (generosos) irmãos mais velhos como o Dark Side of the Moon (1973), dos Pink Floyd, Hunky Dory (1971), do Bowie, ou Lamb Lies Down on Broadway (1974), dos Genesis, foi para mim um verdadeiro 25 de abril musical. Começava a prestar atenção ao que era da minha geração (os Talking Heads, os Joy Division, os The Clash, uma música que me mudava enquanto pessoa) e estava igualmente embrenhado em recuperar o que havia perdido (pela idade e por um país fechado a novas ideias, mesmo depois do 25 de abril, a que apenas uma elite “de gosto” chegava).
Uma coisa curiosa era a barreira que voluntariamente se criava entre as gerações. Por uns e por outros estimava-se essa diferença, esse antagonismo geracional. Os pais abanavam a cabeça (em desaprovação) ao que os filhos ouviam e os filhos resguardavam os seus discos do contacto com os discos dos progenitores, como se os seus discos pudessem ficar mortalmente infetados. Hoje, já não é assim. A abertura do país, a “amaldiçoada” globalização, permitiu que todos os nichos tenham o seu espaço e a sua voz. Dá menos trabalho, hoje, ser alternativo, do que deu no meu tempo de adolescente em que ouvia o Rolls Rock, do António Sérgio, depois da meia-noite, mesmo com aulas de manhã, às quais chegava sempre profundamente ensonado. Levei todas as minhas filhas, ainda adolescentes, a Paredes de Coura. Cada uma na altura que eu considerei adequada, mas ainda muito jovens, sem o medo que sobre mim tinham, quando o adolescente era eu, de que me perdesse. E só quem não conhece a mente adolescente é capaz desses raciocínios absurdos. O que nos proíbem é, sem dúvida, aquilo que nos motiva. Não perceber isso é não perceber nada.
Portugal tem uma propensão inevitável para a chatice. A situação periférica e uma ditadura longa agudizaram essa tendência. O 25 de abril por si só não obliterou essa realidade. As pessoas que saudavam Salazar e a sua divina providência foram, em muitos casos, as mesmas que (por magia) se intitularam, a 26 de abril, de antifascistas só para ganharem o mesmo lugar ao sol que a 24 de abril procuravam com argumentação oposta, mas com o mesmo afinco. As vanguardas musicais (especialmente as anglo-saxónicas) chegaram-nos

sempre com atraso. Por isso, a segunda metade dos anos setenta foi, para a minha geração, uma espécie de ensino propedêutico acelerado, em que tínhamos que apanhar e interiorizar o que nos precedeu e não perder o comboio do que acontecia. E esse extenuante “trabalho” ocupou-nos muitas tardes em que o disco que o amigo trazia, porque alguém foi a Inglaterra e lho trouxe (na inacreditável e miraculosa excentricidade que era então viajar para o estrangeiro), era virado e revirado como um frango no churrasco. Lado A, labo B, lado A, novamente, até os sons se colarem às nossas células e aos nossos músculos ainda em pleno crescimento. Eu e o Jorge, outro Jorge, ainda nos rimos hoje ao cantar as músicas do Remain in Light, dos Talking Heads, que decoramos, palavra a palavra, som a som, como se fossemos nós próprios os elementos da banda.

Os festivais e os concertos eram, mesmo no início dos anos oitenta, uma raridade. Lia a Rock & Folk, uma revista de música francesa, que descrevia com minúcia os concertos das mais conceituados ou das mais promissoras bandas, com um conjunto de fotografias fantásticas que eu recortava e colava nos meus cadernos do secundário. Siouxsie, Ian Curtis, B52’s, deram vida aos meus cadernos de matemática e física e química. Levava-os dia a dia para a escola como uma prece. Os concertos eram raros (só com grandes bandas), e eu não tinha meios físicos e financeiros para aceder ao Peter Gabriel no Infante Sagres, ou aos The Clash em Cascais. Lia, religiosamente, as crónicas desses concertos, como se os visse, no Música & Som, no Musicalíssimo, no Se7e, este último um semanário que me revelava um jovem, a viver em Inglaterra, nos falava da música de Manchester, da Factory Records, de nome Miguel Esteves Cardoso. Sabia que tinha havido um Vilar de Mouros em 1971, mas pouco mais havia a registar.

No ano de 1982, estava eu em conclusão do meu décimo segundo ano, caiu-me na sopa uma nova edição de Vilar de Mouros. Tinha ainda 17 anos e uma vontade imensa em participar no primeiro grande festival de música, sem cunho partidário, organizado depois do 25 de abril. O verbo “organizar” é, refletindo sobre o que lá se passou, um eufemismo. Aquilo pouco teve de organizado, mas a energia que o motivou teve plena correspondência naquilo a que assistimos. Ainda em julho, no Porto, fui comprar, por um conto e trezentos os meus nove bilhetes, lindos de morrer, que, infelizmente, perdi na voragem de arrumações descuidadas. Desde a música portuguesa, o jazz, o folclore, a música clássica, no festival desfilaram um conjunto de nomes que me encantavam na altura: Durutti Column, The Gist, Echo & The Bunnymen, A Certain Ratio, e também os desconhecidos U2, orgulhosamente irlandeses. Estes últimos tocaram já de madrugada, sob uma neblina que parecia um efeito especial propositado, e alargaram-se no tempo sem que ninguém os tirasse de lá, para gáudio deles e nosso. Hoje, seria impossível. Devem ter tocado até perto das quatro da manhã, num concerto memorável como, creio, eles nunca tinham até então experimentado. Fiquei estarrecido com aquela energia. Mas, mesmo assim, uma meia-hora depois, estava ainda de pé quando surgiu um bluesman americano, Johnny Copeland, que deveria ter tocado há mais de seis horas antes do horário que a “sorte” lhe destinou. No meio daquela desorganização tocou duas músicas e num assomo de tranquilo bomsenso convidou-nos a escutá-lo, na tarde desse dia, pois viria de borla acabar o concerto que não foi possível terminar, com a dignidade que a boa música sempre merece. Francisco Pinto Balsemão estava ainda a tentar segurar as pontas do seu governo, surgido após a morte do seu parceiro fundador do PPD, Francisco SáCarneiro, mas o Conselho da Revolução não dava tréguas utilizando o seu poder (que os seus membros
U2, em Vilar de Mouros, na alta madrugada de 4 de agosto de 1982.


achariam, certamente, messiânico) para impedir que o país se liberalizasse, como na música já se havia liberalizado. Três dias após eu me ter despedido daquela simpática vila do Alto Minho, o VII Governo Constitucional caía.

Termino este artigo, ainda euforicamente cansado das idas e vindas, e ainda me ecoa nos ouvidos a força com que os irlandeses Fontaines D.C. encerraram a 31.ª edição do Festival de Paredes de Coura. Toda aquela juventude que se juntou naqueles dias só me merece elogios. Estiveram ali, como eu também estive, para ouvir música. Sem os exageros dos telemóveis sempre no ar, como se a realidade só existisse em função dos ecrãs. E não é assim e eles sabem que não é assim, sem ser necessário o paternalismo de quem acha que, no seu tempo, é que era. Gente simpática e cordata com quem me cruzei, alguns conheci por serem amigos das minhas filhas e/ou dos meus sobrinhos, com um sorriso nos lábios e outro no coração. Aqueles que, verdadeiramente, teriam motivos para estarem angustiados com um futuro que se afigura difícil, pois aqueles que se angustiam repetidamente, hoje, nunca estariam dispostos a perder as suas “conquistas” para dar espaço àqueles que precisam (esses sim) de conquistar o seu futuro. No entanto, neles, só neles, percebi que ainda, em cada esquina da música, como na Grândola, se pode encontrar um amigo. Ou, quem sabe, o amor.
É preciso avisar toda a gente...
António José Castro


O dia 25 de Abril de 1974, de que guardo recordações quase até ao pormenor, foi o dia mais feliz da minha vida, até então.
No dia anterior saí do trabalho às 10 horas da noite, jantei, li até à meia noite, porque, a partir da meia noite, ouvia todos os dias aquele que era o meu programa de rádio preferido e que mais do que ouvido era gravado em “cassete”. Nem sequer imaginava que esse programa “Limite”, de Leite de Vasconcelos, na Rádio Renascença, transmitiria a senha para a Revolução. Neste caso, o “Grândola Vila Morena”, de José Afonso, não era para avisar toda a gente, mas apenas para a ação militar. Esse 25 de Abril de 74 teria sido o meu primeiro dia na tropa. Entre as 7 e as 8 horas da manhã estava um autocarro, no largo da câmara, para levar uns 40 mancebos até ao RI8, em Braga, para fazer testes psicotécnicos a fim de saber se seríamos capazes de conduzir Berliets, Land Rovers, Unimogs ou outros veículos militares. Chegados ao RI8, o quartel estava fechado e, passado algum tempo, alguém nos mandou regressar a casa. Já em Guimarães, quando apanhava o autocarro para a Costa, um amigo disse-me que havia qualquer coisa de anormal em Lisboa. Chegado a casa, ligo a rádio e a televisão que transmitiam música instrumental. Ouço, então, o comunicado das forças armadas, às 13 horas, e fico informado da revolução. Uma alegria enorme, como devem imaginar, edições especiais da imprensa escrita, que adquiro, e abalo para Braga, sozinho, onde me integro nas manifestações populares. “Foi bonita a festa, pá!”
Uma semana depois estamos todos juntos na grande manifestação do primeiro de Maio. Nunca tinha visto tanta gente junta, em Guimarães.
Neste texto, vou narrar um misto da história das canções, na década de 60 e até 1974, como também as minhas próprias emoções nesses anos.
As canções que me embalaram na infância foram os fados da Amália, do Farinha, do Marceneiro e outros cantados pelo meu pai enquanto fazia os sapatos no seu “ofício” (uma banca de sapateiro em madeira com uma série de divisões para os materiais). Nasci, na década de 50 do século passado, e não havia qualquer

rádio no lugar onde vivia.
Mas, por essa altura, começava uma agitação juvenil nos Estados Unidos com uma grande ligação musical. O “rock’n’roll” tem mais ou menos a minha idade. Soube dessas coisas muitos anos depois, quando vi o filme “Sementes de Violência” (“Blackboard Jungle”) de Richard Brooks (1955), em que o tema musical do filme era o “Rock Around The Clock”, de Bill Haley. O livro de Evan Hunter, que deu origem ao filme, li-o muito antes de ver o filme, o que quer dizer que, a partir de 1953, as canções mais do que banda sonora para bailes e acompanhar uns copos nos bares e concertos em salas de espetáculos e casinos, passaram a ser utilizadas na rua com megafones e em concertos sem lugares de conforto.
Paralelamente, abriam-se também portas com a criação dos discos de vinil para que as canções de trabalho e tradicionais passassem a ter uma divulgação muito mais vasta, e aí aparecem, entre outros, Woody Guthrie e Pete Seeger.
Os tempos eram de mudança (“The Times They Are a-Changin”, como escreveu e cantou Bob Dylan, com respostas dadas pelo vento (“Blowin’ In The Wind”), levando as canções de consciência e liberdade. O desaparecer da velha ordem estabelecida, o vento e o pensamento movimentavam as rodas da mudança. As portas e janelas estavam abertas, era só sair e conquistar a liberdade.
Dylan que, nesse The Freeweelin’, compõe e canta denunciando as guerras, “A Hard Rains a Gonna Fall” e “Masters of War”.
Também foi, em 1963, que houve uma espécie de Blowin’ in the Wind português. Talvez Manuel Alegre tenha ouvido o alerta de Dylan para escrever a Trova do Vento Que Passa que foi musicada por António Portugal e cantada por Adriano Correia de Oliveira, acompanhado por António Portugal e Rui Pato. E assim nascia o protesto e aviso através de canções com Adriano e José Afonso (Vampiros e Menino do Bairro Negro), a lançarem as primeiras pedras através de poemas e notas musicais para derrubarem a ditadura em Portugal que aconteceria uma década depois.
Luís Cília, com a sua voz e maneira de interpretar as canções, nunca seria um cantor popular, mas talvez por isso, tal como Dylan, mereceu atenção ao cantar e musicar à sua maneira poemas de nomes importantes da poesia portuguesa. Foram, sem dúvida, de grandes poetas nacionais as principais letras de canções desse movimento musical de alerta.
O primeiro grande manifesto de Luís Cília foi no ano de 1964 ao editar o seu primeiro disco, “PortugalAngola, Chants de Lutte”, em que há uma denúncia do que se está a passar na guerra de Angola, claro,

segundo o ponto de vista de Luís Cília, nascido em Angola. A mensagem que recebíamos na metrópole era a de que íamos para o ultramar combater o terrorismo. Cília, como muitos portugueses, tinha desertado para não fazer parte da guerra, em África. Também Luís Rego chegaria a ser um dos maiores ídolos do espetáculo durante a década de 60, em França, grande nome do cinema com os Charlots e também nas canções, tinha desertado para evitar ir para a guerra.
Voltando a falar de Cília, ele grava desde 1964 até 1974 sete álbuns (“Portugal, Chants de Lutte” (1964), “La Poésie Portugaise de Nos Jours et Toujours” (três volumes editados em 1967, 1969 e 1971), “Meu País”, “Contra a Ideia da Violência a Violência da Ideia” (1973) e “O Guerrilheiro” (1974). Como sempre gostei de colecionar letras de canções e, graças à revista Mundo da Canção, tinha quase todas as letras editadas pelo Cília e, no caso do álbum “Meu País”, ia rodando lá em casa, graças a um amigo (Américo Matos), que o tinha adquirido não sei como nem onde.
Luís Cília na sua condição de simpatizante do Partido Comunista Português cria e interpreta, em 1967, a canção Avante Camarada que se torna o hino do PCP.
Também é do Cília a canção título do filme “O Salto”, primeira longa-metragem de Christian de Chalonge, um filme que mostrava a fuga para França de jovens portugueses, adolescentes que percorriam, quantas vezes a pé, os milhares de quilómetros por montes e vales em alerta para não serem descobertos e presos e obrigados a regressar e também a darem por perdido aquilo que os pais quase sempre à custa de empréstimos tinham pago aos “passadores”. O “salto” era dado à procura de vida melhor, mas o dramatismo maior era enfrentar todos os riscos e dificuldades para fugir à guerra já que nem todos era por militância, a maioria era, de certeza, pelo medo de morrer na guerra.
Com a saída dos homens para a guerra e para a emigração, Portugal passou a ser um País de viúvas e órfãos de vivos.
E n v i a s t e
O mundo estava em mudança e o poder de contestação estava cada vez mais nas vozes e ações juvenis. Era o tempo do “flower power” e da contestação à guerra do Vietname com a sigla do “make love not war” e, consequentemente, com o lado negativo do consumo de estupefacientes quer naturais, como a marijuana, ou químicos, como o LSD ou a heroína.
Em 68, as vozes de protestos e ações de rua entre jovens agigantam-se, na Europa, culminando com o Maio de 68, em Paris, e, aí, com a participação de imensos jovens portugueses fugidos da guerra e da miséria nacional, entre eles os tais cantores que se tornaram as grandes vozes do movimento contra a ditadura

nacional, sobretudo Luís Cília, mas também Tino Flores, José Mário Branco e Sérgio Godinho. Também José Afonso aparece integrado nesse movimento do Maio de 68.
E, agora, vamos aquela que, para mim, já é parte mais viva e de consciência ativa. Os anos de adolescência e juventude acordam-nos para a realidade, e essa realidade era uma juventude sem futuro, ou, depois da tropa, pensa-se no que havemos de fazer da vida. Com 12 anos comecei a trabalhar, aos 15 ou 16 anos a despontar para os namoros, mas cautela jovem, nada de aventuras ou projetos porque depois dos 20 tens que defender a Pátria. Defender a Pátria ou arriscar a vida por aqueles que a usam e abusam dela.
Foi, então, que, a partir de 68 ou 69, fui alertado para o que se estava a passar por uma pequena revista com letras de canções e a conhecer aquilo que certas canções diziam em vez das letras de amor e ciúme ou engates do Roberto Carlos ou Adamo.
Duas canções foram responsáveis pela minha consciência para o não à guerra: “Para não dizer que não falei de flores”, do brasileiro Geraldo Vandré e “Menina dos Olhos Tristes”, com letra de Reinaldo Ferreira (Reporter X), que foi musicada e cantada por José Afonso. Mas a versão que eu ouvia e cantava até nas jukeboxes, no Largo de S. Francisco, nas festas Gualterianas, era a de Adriano Correia de Oliveira. Tinha 16 anos e a canção falava do regresso numa caixa de pinho com a mãe, o pai, a namorada ou esposa e os amigos a chorar e, pior do que regressar na tal caixa de pinho do outro lado do mar, seria o sofrimento desses pais, amigos e namoradas, e, então, esse medo da guerra deu-me coragem para, se possível, evitá-la, o que acabou por acontecer, graças ao 25 de Abril, porque, quando em Julho ou Agosto de 75, o avião já com as armas estava à minha espera e de mais uns 300, no aeroporto, todos nós nos dispersamos pelas ruas de Lisboa, cada um por si. No meu caso, meti-me no Cinema Olimpia que tinha sessões contínuas, ficar lá a ver o mesmo filme durante umas cinco horas, e, mais tarde, ir a pé até Santa Apolónia e esperar pelo primeiro comboio que me afastasse daquelas paragens em direção ao norte. Dois dias depois, tinha a GNR em minha casa para me levar de regresso ao quartel. Só que eles tinham muitas coisas para resolver.
Falei neste episódio porque a tal canção cantada pelo Adriano foi a principal força para a decisão que tomei. Não decisão política, mas por medo da guerra.
Na imprensa escrita aparece, então, essa pequena revista com letras de canções que será a divulgadora responsável ou inspiradora para a popularidade dessas canções, chamada “Mundo da Canção”. Muita gente passou a trautear essas canções, com letras que que abanaram o sistema até ele cair. Melodias simples e que qualquer aprendiz de tocar viola facilmente aprenderia os acordes e para as cantar não seria preciso grande

voz, apenas vontade de as cantar. Eu fui exemplo disso, já as cantava sem acompanhamento, mas aquando do regresso do ultramar de um vizinho e amigo, o Afonso Novais, acompanhado pela viola era muito mais agradável. Aparece, então, outro amigo, o Aprígio, Oliveira, e no pouco tempo livre que nos sobrava por vezes e arranjávamos algum tempo para as cantigas. É que, por essa altura, havia outros compromissos como 8 horas ou mais de trabalho diário, sábado incluído, e, ao domingo, manhã na missa e tarde na namorada. Foi por pouco tempo, porque o Afonso tinha acabado de chegar de Moçambique e o Aprígio zarpou também para Moçambique no início do ano de 74. Eu fiquei em stand by e, em março de 75, lá recebi guia de marcha para a guerra civil de Angola. O embarque foi adiado devido às dezenas de milhares de mortos nesse abril / maio de 75.
Depois da tropa, e no início da nova vida de casado, voltei às canções em grupo e em palco, mas de pop/rock (1977-1978). Foi também um tempo curto porque a par de não gostar de palcos, também a minha condição de casado me dava justificação para não me meter nessas coisas. Comecei a encontrar-me em ambiente de parque novamente com o Afonso e o Aprígio, juntamente com o Carlos Jorge Pitada, em que as cantigas, nesses convívios de sábado à tarde, eram as velhas canções da resistência de Adriano, Freire, José Afonso, Zé Mário, Sérgio Godinho, e alguns temas da autoria do Afonso Novais, mas também os grandes mestres da Pop Folk internacional, Dylan, Joan Baez, Cat Stevens, Melanie, Cohen e outros mais, assim como os espanhóis Patxi Andion e Paco Ibañez e os brasileiros Chico Buarque e Milton Nascimento. Eram convívios sem agenda e que, no meu caso, deixei quando passei a fazer rádio em 1986. Os outros amigos lá continuaram durante muitos anos a fazer o gosto ao dedo e à voz sob o nome, primeiro, de Improviso e, mais tarde, Dimproviso, tendo estado também no berço de Manuel de Oliveira.
Nesses tempos de resistência, onde a gente poderia ser avisada, era na rádio, mas a rádio, em Portugal, silenciava essas vozes. Eram tempos de programas como Quando o Telefone Toca, relatos da bola centrados em apenas um clube, o humor dos Parodiantes de Lisboa, programas para as donas de casa, bem ao jeito do que se faz, hoje, em televisão, missa e terço e quase nada mais até porque a quantidade de telefonias era muito baixa, a maioria das residências não tinha energia elétrica e os rádios a pilhas nem sequer tinha FM, apenas onda media e onda curta que transmitia do além programas em línguas estrangeiras e com muitos assobios. Mas foi na onda curta que Manuel Alegre, desde Argel, começou a mandar recados avisando a gente.
Já perto do final dos anos 60, com a popularidade entre os jovens das emissões em FM, com as canções

que iam agitando o mundo, o panorama muda de figura e vão aparecendo programas como o “Em Órbita”, mesmo em onda media, o “Pagina Um” e o “Enquanto For Bom Dia”, “Tempo Zip”, o tal “Limite” e alguns outros e consequentemente o aparecimento da melhor geração de comunicadores e realizadores de rádio entre eles Cândido Mota, Júlio Isidro, Carlos Cruz, Fialho Gouveia, João David Nunes, José Nuno Martins, Jaime Fernandes e tantos outros que obrigaram a caducar a radio que se fazia até então. A televisão também foi obrigada a aderir a esses ventos de mudança com o lendário “Zip Zip” que teria os seus ramos em rádio e na edição de discos com muitos novos cantores, músicos e poetas a aproveitar o alerta no poema de João
Apolinário que era preciso avisar toda a gente
Merece grande destaque Arnaldo Trindade, que funda a editora Orfeu, que ousa enfrentar o regime editando entre outros José Afonso e Adriano, no final dos anos 60 e princípio dos anos 70, com obras primas como “Cantares de Andarilho (1968), “Contos Velhos, Rumos Novos” (1969), “Traz Outro Amigo Também” (1970), “Cantigas do Maio” (1971), “Eu Vou Ser Como a Toupeira” (1972) e “Venham Mais Cinco” (1973). José Afonso com uma agilidade poética com canções a denunciar o que não estava bem, mas que pareciam não estar a falar daquilo.
Adriano Correia de Oliveira que, desde 1963, tinha editado muitas canções de alerta e resistência em singles e eps, na Orfeu, em 1969, edita o ”O Canto e as Armas” e, em 1970, “Cantaremos”, e ainda “Gente de Aqui e de Agora”.
Para além desses, também Manuel Freire e outras vozes de alerta. Em 1971, são editados por cá dois cantores, músicos, poetas da emigração, grandes génios da arte das canções e de outros movimentos artísticos: José Mário Branco (“Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades”, de 1971, e “Margem de Certa Maneira”, de 1972), e Sérgio Godinho (“Sobreviventes” e “Pré-Histórias”, em 1972).
A par dos movimentos pacifistas internacionais, há também a mudança de poder em Portugal com a morte de Salazar e, consequentemente, surge alguma abertura, mais por pressão criativa quer na edição de livros e discos, no cinema e teatro, mas também por uma imprensa temática que vai aparecendo com coisas menos populistas mas também “para avisar toda a gente”, o já referido “Mundo da Canção” mas também os jornais: - “Disco, Musica & Moda”, “A Memória do Elefante”, “Musicalíssimo”, “Cinéfilo”, “Rádio & Televisão”. É desse período o nascimento de um semanário dedicado entre outras coisas à política, “O Expresso”. Alguns jornais diários estavam com grande dinâmica em especial o Diário de Lisboa, mas também o Diário Popular e A Capital tinham as suas crónicas de alerta.



Recortes da revista Mundo da Canção da semana seguinte ao 25 de Abril extraídos de jornais diários.
As coisas passaram também a ser adversas politicamente a nível internacional, em consequência do avanço dos movimentos de libertação nas ex-colónias com o apoio de grandes potências internacionais como a União Soviética e os Estados Unidos e, no seio da ONU, segundo li ou ouvi na altura, quando o representante

português falava, a sala esvaziava.
Acho então que as principais armas para derrubar 48 anos de ditadura foram as cantigas que, ao contrário dos “influencers” da atualidade, que nos “poupam” o esforço de pensar, as canções obrigavam o nosso cérebro a funcionar, e a rejeitar cançonetas banais.
O meu desencanto em relação a alguns cantores que ajudaram a que Abril fosse possível, começou quase a 26 de Abril quando alguns dos artistas que ajudaram a desmascarar a ditadura se tornaram eles “donos disto tudo”. Ainda recentemente, na comemoração dos 50 anos, aparecem alguns a querer dar a entender que foram eles quem libertou Portugal do Fascismo. Dessas memórias de desencanto estou a lembrar-me de um “Canto Livre”, em Maio de 1974, em que do palco houve alguém a apontar e a denunciar aqueles que achavam ser menos revolucionários do que eles, ou que, então…
Lembro-me também de um espetáculo de má memória no Ginásio da escola Francisco Holanda, com José Barata Moura e Manuel Freire e uns cantores galegos que por divergências de marxismos-leninismos-maoismos desatam à pancada. Refiro-me aos galegos porque quando as coisas aconteceram eu estava no palco com o Manuel Freire.
Dos cantores que avisaram a gente antes do 25 de Abril, os únicos a que me mantive fiel foi a José Afonso, Sérgio Godinho, José Mário Branco (que regressa aos discos já na década de 80 com o épico “Ser Solidário”) e Fausto.
Alguns afastaram-se de cena como Adriano, Freire ou até o Barata Moura que se aproximou mais da canção infantil.
Havia alguns que não tinham uma linha partidária definida, à exceção de Zé Mário, Fausto, por exemplo, quase sem sinais de música panfletária. Adriano quase desapareceu dos discos, mas continuei a adquirir tudo o que editavam Sérgio, Zé Mário, Fausto, José Afonso e Adriano. “À Imagens de publicações


Queima Roupa”, de Sérgio Godinho, é um manifesto antifascista e que eu adorei. José Afonso e Zé Mário sempre de chicote levantado, mas depois havia os outros para quem não tive paciência, não tanto pelas canções, mas pela atitude de sobranceria. Ditadura de direita ou de esquerda, não, por favor.
Aproveito para esclarecer que nada tem a ver com as minhas simpatias políticas já que nunca tive, em cinquenta anos de democracia, ligação com qualquer sigla partidária. Os anos quentes de 74 e 75, vivi-os intensamente e com muitas histórias ativas e de proximidade tendo privado com alguns dos principais nomes da revolução e episódios que, nesses anos, aconteceram, mas sempre com a isenção e independência que mantenho.
Viva ABRIL.


FAUSTO - a vida se foi (01/07/2024), fica a obra!
António José Castro
“Comecei a ouvi-lo em 1970 num primeiro disco da sua carreira em que ele faz um pedido para este dia em que deixou a vida com a canção “Quando Eu Morrer Um Dia”.
Foi um dos músicos que mais admirei e respeitei (recordo 1975 em que ele se mostrou solidário com a luta dos soldados da Polícia Militar na recusa do embarque para a guerra civil em Angola). Obrigado Fausto por tudo o que foste e que a tua obra irá continuar a ser. D.E.P.”
Foi isto que publiquei na rede social Facebook, quando soube que Fausto tinha falecido, logo no amanhecer do dia 1 de julho de 2024.
Falar de Fausto é recuar às emoções de um quase adulto (16 anos) curioso e atento às diversas correntes musicais que iam aparecendo na segunda metade dos anos 60 e princípio dos anos 70. Novas sonorosidades (psicadelismo, rock progressivo, hard rock), mas também a transformação dos géneros mais tradicionais como os blues, soul, jazz, folk e country. Um pouco por todo o mundo e influenciados pelos comportamentos de liberdade e pacifismo, a geração hippie vai transformando a mentalidade juvenil e uma maneira completamente diferente de fazer arte e cultura. Literatura, cinema, pintura e em especial a música passam a ser a principal orientação de comportamentos. Em Portugal (país em guerra), na rádio, na televisão, na imprensa (Mundo da Canção, Memória do Elefante, Musicalíssimo, Cinéfilo, e até a revista com a programação televisiva R&T, cadernos de jornais diários) surgem os principais sinais dos “Ventos de Mudança” anunciados por Bob Dylan, desde o início dos anos 60.

Fausto in, sitediscogs.com

Zip-Zip é a principal alavanca na televisão e rádio e até na edição de discos e descoberta de novos cantores. Na minha curiosidade dos 16/17 anos e no desejar estar na crista da onda quer na atenção às artes como à moda, com as “bocas de sino”, cabelos longos e saltos altos levou-me a focalizar a atenção para quem sabe gostar dessas novas coisas. Comecei a ler muita poesia, tendo adquirido, por exemplo, a obra poética de José Gomes Ferreira, os Poesia 1, 2, 3, 4 e 5.
Um dos poemas de Gomes Ferreira, “Oh Pastor Que Choras”, ouço-o na voz de um cantor e compositor que, na sua biografia, está como natural de Guimarães.
Todo o disco me deixou maravilhado, pela beleza melódica, poética e sobretudo pela interpretação na qual José Almada, na altura com 18 anos, acentua uma pronúncia muito estranha (acho que na altura vivia em Armamar – agora reside em Ovar).

In site discogs.com
Contactei com ele algumas vezes através de uma rede social, mas está completamente desligado daquilo que fez enquanto jovem. Curiosamente, no disco de estreia de José Almada, “Homenagem” (1970), para além de cinco poemas de José Gomes Ferreira, estão três canções com letra de Fausto José e musicadas pelo próprio José Almada.
Primeira pergunta, quem é esse Fausto José? Sempre pensei que o Fausto José fosse o Fausto Bordalo Dias até pela data da edição dos primeiros trabalhos e sobretudo porque, no primeiro Fausto de 1970, tinha o “Ó Pastor Que Choras” de Gomes Ferreira cantado e musicado pelo “nosso” Fausto que tinha chegado de Angola e era artista das cantigas. Esta confusão só, agora, ao escrever este artigo é que descubro que o Fausto Bordalo Dias nada tem a ver com o outro do José Almada. O seu primeiro disco Fausto foi gravado na Holanda

e editado pela Phillips em 1970. O que é certo é que esse engano e o facto de José Almada ter nascido em Guimarães, me fez estar atento aos trabalhos do Fausto. O tal de 1970 com nítidas influências do psicadelismo e de alguns cantores como James Taylor, mas a sua proximidade ao que se passou a fazer em Portugal, sobretudo com José Mário Branco e Sérgio Godinho, que, a par de músicos com ideias novas, eram também executantes e compositores de grande qualidade. Só a partir de 74, Fausto começa a ter discos editados regularmente. Fausto chamou-me a atenção por, sendo desconhecido, ter sido um dos músicos que um mês antes do 25 de Abril teve destaque no concerto do Coliseu que foi uma espécie de senha para a revolução.
Com o Prec fui acometido por um certo desencanto em relação aos cantores de intervenção do antes do 25 de Abril, à exceção do Zé Mário, Sérgio Godinho, José Afonso e também do Fausto pela coragem que teve de se manifestar em favor de uma classe política que pensava e agia diferente da que orientava o país a seguir ao 11 de Março de 75.

In site discogs.com
Em 1974, Fausto funda o GAC com o Zé Mário Branco, Afonso Dias e o agora vimaranense Tino Flores (com quem partilhei as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, no CAR).
Mas esses músicos de intervenção quase que se silenciaram a seguir ao 25 de Novembro de 75, à exceção do José Afonso, sempre ativo e Sérgio Godinho. E seria com Sérgio Godinho que eu reencontraria Fausto como compositor do poema de Viriato da Cruz “o Namoro” que está no álbum do Sérgio de 1976 “De Pequenino Se Torce o Destino”.
A partir de 1977 aparece um Fausto diferente, fora do percurso de intervenção política, mas na descoberta e divulgação de música popular portuguesa associada à história de Portugal. Entre 77 e 94, Fausto cria e edita obras primas

da história da Música Portuguesa (“Madrugada dos Trapeiros”, “Histórias de Viageiros”, “Por Este Rio Acima”, “O Despertar dos Alquimistas”, “Para Além das Cordilheiras”, “A Preto e Branco”, “Crónica da Terra Ardente”). Não digo para escolherem este ou aquele, mas se possível oiçam tudo o que puderem.
Para concluir, é com vaidade que digo que, na companhia do meu companheiro de muitos anos e de alguns programas de rádio António Costa, fomos os maiores divulgadores das canções de Fausto, em Guimarães. Durante cerca de duas décadas, o nosso “Português Suave”, na Rádio Santiago, aos sábados, tinha todas as semanas canções de Fausto Bordalo Dias.
Nem sei se alguma vez assisti a algum espetáculo seu ao vivo.
Desconhecia que estivesse doente.
Como escreveu Carlos Ruiz Zafon, no livro “O Labirinto dos Espíritos “, “as pessoas morrem, sobretudo as que mais gostávamos que continuassem vivas. Talvez Deus precise de abrir aqui espaço para a grande quantidade de filhos da puta, com que adora condimentar o Mundo”.
Fica a saudade, mas também a sua obra.
Paz à sua alma.


A 25 de Abril de 1974 - o “lápis azul” esboroou-se
Händel Oliveira
Uma das coisas mais dolorosas para o Ser Humano é a repressão intelectual. Nas autocracias a primeira preocupação do ditador é controlar a Imprensa. Em Portugal, após o golpe militar de 28 de Maio de 1926, mais precisamente em 22 de Junho desse ano, o governo da ditadura portuguesa criou a Comissão da Censura, popularizada por comissão do lápis azul, a qual viria a ser consagrada na Constituição de 1933, a lei fundamental do Estado Novo. Com a ascensão de Marcelo Caetano ao lugar de primeiro-ministro, em substituição de Salazar, aquele mudou o nome dessa Comissão da Censura para Comissão de Exame Prévio. Mas esta mudança não passou de uma operação cosmética, pois os jornais, rádios, televisões, livros e as artes plásticas, continuaram a ser alvo da sanha censória e repressiva do regime. O aperto à criação intelectual era de tal forma que os artigos de opinião, notícias e livros, com os cortes ficavam desfigurados.
Numa madrugada renasceu a esperança
Com o 25 de Abril essas amarras caíram, o povo aplaudiu e os jornalistas regozijaram com estrondo, exaltando incontida alegria de uma classe amordaçada durante quase 50 anos.
Novos projectos editoriais, de imprensa escrita, rádio e televisão, foram surgindo ao longo dos primeiros anos da Terceira República Portuguesa.
O entusiasmo e a esperança eram de tal modo fortes que se percebia, na enorme comunidade jovem da Cidade-Berço, o desejo de criar e participar em novos projectos editoriais, à época um sector dominado pelo Notícias de Guimarães, com grande pujança, e o debilitado O Comércio de Guimarães que sobrevivia. Este último viria a ser revitalizado bastante mais tarde quando foi adquirido pela Santiago – Sociedade de Cultura e Turismo, assumindo o primeiro lugar naquele que viria a ser o Grupo Santiago/Guimapress, SA. Como vem a propósito, lembro que O Comércio de Guimarães completa a bonita idade de 140 anos no dia 15 de Maio deste ano. Está vivo e recomenda-se como um semanário de referência.

Novos projectos editoriais
De novos projectos editoriais, ainda nos anos 70, recordo o bem estruturado O Povo de Guimarães, que nasce claramente à esquerda na esfera do Partido Socialista, sem dúvida como contraponto ao conservadorismo do existente Notícias de Guimarães.


Prelo de 1851 onde foi impresso O Comércio de Guimarães a partir de 1884, patente no museu do Grupo Santiago.

Já nos anos 80 surgiram novos projectos editoriais, mas foram os de Rádio os que mais entusiasmaram os jovens. Senti isso directamente em minha casa com a euforia do meu filho quando participou no segundo projecto de rádio pirata e, depois, viria a ser co-fundador da Rádio Santiago, à época ainda designada de Rádio Foco. Ele e outros jovens afanavam-se na construção do projecto, mesmo participando nos trabalhos de construção civil e outros.
O ambiente era tão contagiante que eu mesmo acabaria por aceitar fazer um programa de entrevista e debate, à época designado de «Sem Corantes Nem Conservantes».
Rádios piratas legalizadas
E assim chegaríamos a 1989 com três rádios piratas no ar: Rádio Fundação, Rádio Guimarães e Rádio Santiago. Este foi o ano do concurso para a legalização das rádios locais e Guimarães tinha direito a dois alvarás, pelo que uma das três teria de ficar de fora.
Feito o concurso, seriam contempladas com os referidos alvarás a Rádio Fundação e a Rádio Santiago. É absolutamente indiscutível que a Rádio Fundação estava mais implantada na região, naturalmente por mérito dos seus colaboradores e responsáveis, mas também porque não tinha sido objecto da perseguição política que marcou os primeiros anos de vida da Rádio Santiago, impedida de colocar o emissor e antena de emissão no topo da montanha da Penha, como acontecia com as outras rádios e televisões.

Imagem de estúdio de rádio no ar
Esse problema viria a ser minimizado por generosa disponibilidade de um vimaranense de quatro costados, entusiasta por tudo que valorizasse a sua Terra que tanto amava. Abel Pinheiro Ribeiro da Silva detinha uma parcela de terreno nas imediações da “curva da morte” e disponibilizou-a para ali serem colocadas as antenas e emissor da Rádio Santiago. Não era a solução ideal, até porque continuava a não conseguir passar em boas condições o sinal para nascente/sul da Penha, através das ondas hertzianas.

Santiago um fenómeno de audiências reconhecido
Mas foi o tónico animador para que a jovem equipa da Santiago se entusiasmasse num esforço de valorização do projecto de tal forma que, em 1994, no primeiro Bareme Rádio da Marktest para as rádios locais, a Santiago emergisse como a rádio local mais ouvida em Portugal, sendo que, no distrito de Braga, superava não só os níveis de audiência das suas congéneres locais da região, mas também de projectos de âmbito nacional. A euforia entrou pelas portas do número 131 da Praça S. Tiago, era já o Grupo Santiago em marcha e, em sucessivas conquistas e novos projectos, transformou-se num dos mais sólidos e respeitados projectos editoriais do País, sendo que, ainda hoje, não obstante a dura crise do sector, consegue ter seis órgãos de informação, dotados de uma qualificada equipa profissional, modernos equipamentos, em confortáveis instalações próprias, no centro da Cidade-Berço, onde disponibiliza ainda um simpático e didático museu de imprensa escrita e rádio.
A vida da comunicação social não é nada fácil e não é por acaso que dos muitos projectos editoriais em suporte de papel, criados no pós-25 de Abril e até o mais marcante semanário do tempo do Estado Novo, desapareceram das bancas. Não fosse o Grupo Santiago, Guimarães não teria um único semanário em papel, mas assim conta ainda com o centenário O Comércio de Guimarães (140 anos) e o Desportivo de Guimarães.
Sim, a Liberdade que o 25 de Abril trouxe e que, quando foi ameaçada, o 25 de Novembro confirmou, repercutiu-se numa dinâmica Imprensa em Guimarães, que tem cumprido o seu desiderato de intermediar os cidadãos no contacto com o poder autárquico e vice-versa, escrutinando este quanto baste e fortificando a cidadania nesta orgulhosa Terra de Afonso Henriques, primeiro Rei de Portugal.
Ao celebrar os 50 anos do 25 de Abril, olhando para trás percebemos como Guimarães respirou a Democracia, também ao nível da Imprensa livre. Muito embora alguns com uma marca claramente pessoal, muitos novos projectos editoriais surgiram na Cidade-Berço, abrindo novos espaços para a criatividade de muitos jovens, alguns deles alcandorados a projectos nacionais de televisão, a partir dessa maravilhosa experiência local.

Os espinhos do jornalismo local
Mas nem tudo são rosas no jornalismo local. A proximidade que aparentemente propicia uma certa facilidade de acesso às fontes, é mais castradora do que possa imaginar-se. Na verdade, numa cidade como a nossa, todos se conhecem e há mesmo laços familiares entre muitos. Na diversidade de interesses e até de personalidades, diminui a margem de manobra dos jornalistas locais. Se um órgão de informação nacional dá a notícia de que uma determinada pessoa foi detida, por suspeita de ligação a qualquer caso criminal, não passa pela cabeça de ninguém ir a Lisboa pedir satisfações ou ameaçar o mensageiro, vulgo jornalista. Contudo, se a mesma notícia for dada por uma meio local, algumas pessoas já se acham no direito de o fazer e a verdade é que o fazem com alguma frequência. E, então, se falarmos de jornalismo desportivo, aí a frequência de incidentes deste género multiplica-se.
Claro que isto não é fruto da valiosa Democracia conquistada, pelo contrário, advém da confusão de muitas cabecinhas entre democracia e anarquia. Portanto, mais uma questão de iliteracia cívica, que importa combater para melhoria da nossa sociedade.
E o Futuro?
50 anos decorridos, importa agora olhar para o futuro. Mas será que há futuro para a Imprensa local? Para ser sincero, à excepção das rádios, acho que não. A falta de escala inviabiliza qualquer projecto profissional onde se respeitem os respectivos profissionais e cumpram as responsabilidades legais e financeiras.
Num País de forte cultura municipalista e com tantos projectos de comunicação social de âmbito nacional, hoje em dia alguns dos quais já com razoável cobertura regional e local, nem os projectos digitais conseguirão viabilidade, pois serão sempre dirigidos a um universo local e, quando muito, mais uma parcela da emigração oriunda dessa localidade. Claro que este futuro não é amanhã, mas mais breve do que possa imaginar-se, tal como aconteceu até aqui com as redes sociais, que mais depressa do que se pensava vieram estupidificar as pessoas e prejudicar fortemente a comunicação social.
Situação insustentável
A última questão sobre a qual vale a pena reflectir é a das condicionantes imateriais da comunicação social. Numa organização do Estado profundamente regulamentadora e controladora, será possível estruturas como as da Imprensa Local sobreviverem em perfeita liberdade e independência? A resposta é não!

Desde logo porque a uma pequena empresa de comunicação social local são exigidas pelo Estado precisamente as mesmas burocracias que às grandes empresas do sector, designadamente, Grupo Impresa e Grupo Media Capital. Pior ainda, nestes meios pequenos, a situação agrava-se mais quando a inveja e a mesquinhez de alguns agentes económicos levam ao uso e abuso das entidades reguladoras, ERC, ANACOM, ERS, ASAE, etc... E isto acontece em situações tão ridículas como, por exemplo, na área da saúde, um estabelecimento, naturalmente assessorado por advogado, descobre uma vírgula da lei que não esteja a ser observada na publicidade de um seu concorrente mais bem sucedido, ainda que interpretada de forma controversa, faz queixa à ERS e esta, implacável e de cima da prepotência de um Estado que tudo quer controlar dos mais fracos para reforçar os ganhos dos mais fortes, desata a multar com pesadíssimas coimas o órgão de comunicação em causa. Um caso concreto foi sancionado por ter uma publicidade onde se dizia que determinado profissional da saúde “foi pioneiro” numa determinada localidade. É verdade que é pioneiro naquela especialidade na tal localidade, mas o código da publicidade chega ao detalhe de dizer as expressões que não podem ser usadas em publicidade e essa é uma delas, não obstante ser verdade.
Enquanto isso, nas televisões, rádios e jornais nacionais, todos os dias e a toda a hora vemos publicidades de verdadeiras fraudes para os cidadãos, tais como aqueles milagrosos suplementos alimentares que, alegadamente, prolongam as nossas vidas até aos 200 anos.
Outro exemplo de pouca vergonha é a proibição de publicar um simples artigo num jornal do qual conste um link para jogos de casino e, ao mesmo tempo, vemos televisões, gigantes da net, Google, Meta, etc., a promover tudo e mais alguma coisa, sem qualquer censura da parte das autoridades. Até a mais destruidora opção de jogo para os mais pobres e iletrados, a raspadinha, é promovida livremente em todo o lado.
Enfim, mais do que qualquer nova revolução, faz falta um objectivo nacional profundo e galvanizador no sentido de valorização das nossas gentes, designadamente pelo civismo e consciência crítica, para escrutinar consciente e eficazmente os órgãos de Estado, geralmente imbuídos de uma cultura abusadora da ignorância alheia.
Ao completar 50 anos de Democracia, para concluir esta modesta evocação, puxo para aqui o meu lado mais optimista com esta afirmação: Tenhamos esperança!


ABRIL de Mãos Dadas
Gabriela Nunes
Desfolham-se os dias e os anos em memórias de Abril que os cravos desnudam e recordam. Na veia do poeta Pessoa é: “A liberdade que nasce, a vida que vence!"66. Na inspiração de Zeca Afonso: “o sol que vai nascendo”67 .
Celebramos 50 anos sobre o 25 de Abril de 1974, a Revolução dos Cravos, um dos momentos de rasgo, de revolta e de iniciativa histórica mais marcantes da história de Portugal, apenas comparável à Crise de 1383-85, à Restauração da Independência em 1640, à Revolução Liberal de 1820 ou à Implantação da República, em outubro de 1910, com um impacto abrupto no poder político e na forma como se organizava a sociedade.
A liberdade veio primeiro pelas ondas hertzianas, decifrando a madrugada esperada do “dia inicial, inteiro e limpo”68 de Sofia: “Aqui Posto de Comando do Movimento das Forças Armadas”69, ouviu-se, anunciando o adeus à tirania. Os militares saíram às ruas de Lisboa interpretando os anelos de Portugal e dos portugueses para derrubar a noite sisuda do obscurantismo em que a liberdade e a esperança de um povo jazeram sepultadas sob a opressão e o desprezo da ditadura, que governava o país há quase meio século. Agigantou-se a luta pelo fim da censura, da tortura, da guerra colonial, da repressão política que resultou na queda do regime salazarista e na instauração de um regime democrático e da vida em Liberdade.
Nesse dia da nossa história eram cravos, senhoras e senhores, eram cravos, nos canos das espingardas. Entregamos ao mundo a revolução mais civilizada de todas e, sem violência, tal como defendia o pensador
66 Fernando Pessoa (1888-1935), "Poesias Inéditas (1919-1930)", do poema "Liberdade", um dos mais conhecidos de Fernando Pessoa, reflete a busca incessante pela liberdade e o triunfo da vida através dela.
67 Zeca Afonso (1929-1987) foi um dos mais influentes músicos e poetas portugueses do século XX, amplamente reconhecido pelo seu papel na música de intervenção e pela influência que teve durante o período da Revolução dos Cravos em Portugal. Excerto da música "Menino do Bairro Negro".
68 Sophia de Mello Breyner Andresen (1919-2004) foi uma poetisa portuguesa, considerada uma das mais importantes do século XX, em Portugal. Esta é uma das citações mais emblemáticas das que se referem ao 25 de Abril de 1974.
69 Excerto do início do primeiro comunicado do Movimento das Forças Armadas lido no dia 25 de abril, pouco depois das 4 da manhã, no Rádio Clube Português, pelo jornalista Joaquim Furtado.

francês Condorcet70, entabulamos mudanças políticas. E assim foi. Nasceu em flor um novo regime democrático.
Eis Portugal “Levantado do chão”71, na obra de Saramago, numa narrativa que vai da submissão à libertação, perpassando gerações. "Do chão sabemos que se levantam as searas e as árvores, levantam-se os animais que correm os campos ou voam por cima deles, levantam-se os homens e as suas esperanças”.
Eu nasci com a liberdade. Mulher!
Herdei-a, como toda a minha geração, embebida no entusiasmo daqueles que lutaram por Abril. Herdamos também as memórias intensas de um tempo obscuro, partilhadas sem o distanciamento que as vivências nas entranhas não permitem alcançar. Somos fiéis depositários de tantas estórias de infâncias roubadas, de vidas rasgadas que o tempo e a história se encarregarão de racionalizar. Eu, como disse Baptista Bastos, “contarei Abril de mãos dadas”72 .
Nos anais da história de Portugal, o período anterior ao 25 de Abril é marcado por um conjunto de leis e normas que relegavam as mulheres a um papel secundário na sociedade, privando-as de direitos fundamentais e limitando drasticamente as suas liberdades. Uma das leis mais emblemáticas desta questão é o Código Civil de 1867 (revisto em 1966)73 que estabelecia claramente a submissão da mulher ao homem em diversos aspetos da vida social e familiar. Esta lei afirmava que "o marido é o chefe da sociedade conjugal", conferindo-lhe poderes sobre a esposa e os filhos. Segundo o artigo 1674, do Código Civil de 1966 “O marido é o chefe de família, competindo-lhe nessa qualidade representá-la e decidir em todos os atos da vida conjugal comum (…)”. Não havia espaço para a igualdade nas páginas dessas leis. Era como se a mulher fosse uma mera extensão do marido, destituída de autonomia e independência. A título de exemplo, até 1969, as mulheres, sobretudo numa situação económica desfavorecida, não podiam deslocar-se ao estrangeiro sem uma
70 Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat, Marquês de Condorcet (1743-1794), foi um filósofo e matemático francês que explorou a ideia de que a razão tem capacidade para resolver conflitos, promover reformas sociais e realizar mudanças políticas sem necessidade de violência, de que é exemplo o seu trabalho "Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain", publicado postumamente em 1795.
71 José Saramago (1922- 2010), o romance "Levantado do Chão", publicado em 1980, é uma obra marcante na literatura portuguesa. O título simboliza a aspiração do povo português em se levantar contra a opressão e procurar melhores condições de vida.
72 Baptista-Bastos (1934-2017) foi jornalista e escritor português. Esta frase faz parte de um texto que escreveu para a Comissão Nacional para as Comemorações dos 30 Anos do 25 de Abril, publicado em 2004. O texto reflete sobre o impacto e o significado da Revolução dos Cravos.
73 Código Civil Português de 1867, também conhecido como o Código Civil Seabra, foi o primeiro código civil moderno de Portugal, entrando em vigor a 1 de janeiro de 1868. No entanto, em 1966, o código foi revisto e atualizado para se adequar às mudanças sociais e legais. Essa revisão resultou no Código Civil Português de 1966.

autorização expressa do marido74 .
Os passos das mulheres eram limitados, as suas escolhas cerceadas e as suas vozes abafadas pelo eco de uma misoginia legal institucionalizada: sustentada pela sociedade e sufragada pela igreja.
O direito ao voto, uma pedra angular da participação cívica e política, era negado às mulheres. Era uma exclusão enraizada na lei eleitoral, que limitava o sufrágio apenas aos homens. Esta privação não apenas as relegava para a margem da esfera política, mas também as privava de uma voz ativa na construção do destino da nação. Já com a República, Carolina Beatriz Ângelo, médica e ativista feminista, logrou votar nas eleições para a Assembleia Constituinte, em 28 de maio de 1911, utilizando uma brecha na lei eleitoral. A lei permitia que "cidadãos chefes de família" votassem e Carolina Beatriz Ângelo argumentou, com sucesso, que, como viúva e mãe, ela era a chefe de sua família. Mas, mesmo com a República da “Liberdade, da Igualdade e da Fraternidade”75, pugnava-se pelo statu quo e a lei foi rapidamente alterada para evitar outras veleidades igualitárias.
Quais lindas flores, mas, silvestres, de adorno e servidão, excluídas do jardim da democracia e relegadas para a margem da participação política. “Eu não me lembro de ir votar. Não pensávamos nessas coisas”. 76 Foi apenas após a Revolução dos Cravos, em 1974, que o sufrágio universal foi garantido na nova Constituição de 1976, assegurando o direito de voto a todas as mulheres sem restrições.
Nos tribunais, a justiça e as magistraturas vestiam-se com os trajes da discriminação. As leis, que favoreciam os homens, eram aplicadas exclusivamente por homens e perpetuavam a injustiça, deixando as mulheres à mercê de um sistema que as considerava inferiores e incapazes de decidir sobre suas próprias vidas.
No que concerne à esfera laboral, as mulheres enfrentavam também uma discriminação sistemática. A legislação laboral permitia que as mulheres fossem dispensadas do trabalho sem justa causa em caso de casamento, gestação ou maternidade, reforçando a ideia de que a sua principal função era a de esposa e mãe, relegando as suas ambições profissionais para segundo plano. Contaram-me por aqui (Vale de S. Torcato), entre os mitos da maternidade, que quando um bebé nascia, caso fosse rapaz, a água do primeiro
74 Só a 25 de outubro de 1969, através do Decreto-Lei 49317, publicado em “Diário da República”, o regime entendeu “não se justificar que a concessão de passaporte a mulher casada continue dependente de autorização marital”.
75 "Liberté, Égalité et Fraternité", no original, é uma referência aos valores fundamentais da Revolução Francesa de 1789. Estes princípios foram adotados pela República Francesa e são pilares emblemáticos das democracias modernas e da luta pelos direitos universais e justiça social.
76 Recolha no âmbito do projeto “Então Vamos!” realizado pela Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Locais (ADCL) em S. Torcato.

banho devia deitar-se pela porta fora, para ele se “fazer à vida”; caso fosse rapariga, deitava-se a água atrás da porta, dentro de casa, para ela ficar em casa.77 Relegando cada um à sua função, consagrada na lei e na sociedade.
O Código Civil de 1966 estipulava ainda, entre múltiplos aspetos, que a mulher necessitava de autorização do marido para exercer certas atividades comerciais, mantendo a sua capacidade empreendedora sujeita à vontade do esposo. Muitas mulheres permaneciam impedidas de desenvolver uma atividade laboral autónoma, fora do contexto familiar. A Rosa guardou um pouco da sua alma numa folha secreta onde escreveu: “não pude trabalhar, o meu homem não deixava. Tanta fominha passei, para dar à míngua aos meus meninos!”78 .
A pobreza era uma realidade persistente, especialmente nas áreas rurais. As políticas de controlo social e económico, em grande parte, marginalizaram os mais pobres.
No tempo da “meia sardinha”, partilhada entre os muitos filhos ou do ovo frito em dia de aniversário, qual presente de Deus, nos dias em que a ausência de chuva permitia aos homens trabalhar nas obras, as suas mulheres (esposas e mães) caminhavam longas horas para lhes levar o almoço, servindo, não raras vezes, parcas batatas cozidas com casca, ou arroz com couves, sem cheiro de proteína, com uma côdea de pão à mistura. Na hora do repasto, emanava o sabor da servidão e da miséria79 .
As crianças, num tempo em que a frequência escolar era só para alguns, os “desmerecidos” iam trabalhar, na maioria das vezes, em tenra idade para aliviar as misérias e garantir o sustento. “Estudei até à 2.º classe, menina, a minha mãe não tinha dinheiro para o livro da 3ª. “Sabe, só os ricos tinham canetas maciinhas?!” Disse, como se ainda hoje sonhasse com elas80. O trabalho infantil era a norma naqueles tempos. Muitas meninas iam servir! Conta a Zulmira que, mal acordara da sua infância, ainda estremunhada, com 9 anos foi servir.“Disseram-me para limpar as casas de banho, mas eu nunca vira uma casa de banho na
77 “Então Vamos!” - Livro, editado pela ADCL, em 2021. Apresenta várias peças de teatro assentes em diferentes recolhas efetuadas, com relatos, histórias e memórias da população do Vale de S. Torcato. O presente excerto integra o texto: Água do cú lavado para afastar o mauolhado.
78 Recolha no âmbito do projeto “Fazer Presente” realizado pela Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Locais (ADCL) na Comissão Social de Sul Nascente de Guimarães.
79 Memórias das minhas avós e da minha mãe que viveram de perto a realidade dos trabalhadores da construção civil, as suas esposas e famílias, nos anos que antecederam o 25 de Abril.
80 “Então Vamos!” - Livro, editado pela ADCL, em 2021. Apresenta várias peças de teatro assentes em diferentes recolhas efetuadas, com relatos, histórias e memórias da população do Vale de S. Torcato. O presente excerto integra o texto: Mulher Asa.

minha vida! Em minha casa só tinha uma retrete”81. Pelas veredas desta terra, a Rosário recorda que aos 12 anos ia para as feiras vender maçãs. Eram três horas de caminho… “três horas para lá, três horas para cá”!82
No meio de tanta miséria, num Portugal sem serviço nacional de saúde, a taxa de fecundidade era grande e acompanhada pela grande taxa de mortalidade infantil, que fazia ecoar nas terras, nos campos e nos montes o dobrar gélido dos sinos aos “anjinhos”. Dedicadas à casa e aos múltiplos filhos, quantas mulheres e suas famílias choravam a partida para a guerra dos moçoilos marcando o medo e o luto o compasso dos dias.
As leis relacionadas com o divórcio eram extremamente restritivas para as mulheres. O divórcio era visto como um tabu e só podia ser obtido mediante graves motivos, como o adultério. No entanto, mesmo nestes casos, a mulher era discriminada e culpabilizada, enquanto o homem gozava de impunidade. Segundo o Código Penal de 1886, em caso de flagrante adultério, o marido que matasse a mulher ou o adúltero, ou ambos, estaria sujeito a ser expatriado – desterrado – durante seis meses para “fora da comarca”83. As mães solteiras padeciam a discriminação e repulsa de uma sociedade conservadora e obsoleta. Conta a Toninha numa linguagem que inebria quem a escuta:
“Antigamente nada era normal! Nem entrava na nossa casa a cruz, na Páscoa. Porque a minha mãe era mãe solteira. Tinha-me a mim e ao meu irmão. Não era normal. Uma altura estávamos à porta de casa, e a minha mãe coitadita, asseou a portinha com florzinhas para receber a cruz. Não é?!
A minha mãe não valia nada por nos ter a nós, a mim e ao meu irmão. Ser solteira e nos ter a nós. Estão a entender?
E a Cruz passa, e não entra. E, nós ali! A minha mãe, a chorar, disse: não veio meus filhos. Ide a correr atrás e beijai que é igual!...”84 .
As leis e normas antiquadas e bolorentas, sentenças de um passado rígido, delineavam um mundo onde as mulheres, frequentemente subjugadas e desvalorizadas, eram relegadas a um papel submisso e servil. Seres menores, vazios de direitos, rodeados por grades impostas pela sociedade patriarcal. Limitadas nos pequenos atos como ir a um café, ou explanada ou, tão só, vestir umas calças…. Qual o teatro do absurdo o relato da Lurdinhas: “A diretora da escola proibia as funcionárias de usar calças. Uma vez, uma colega foi
81 Idem, ibidem. O presente excerto integra o texto: Quem não trabuca não manduca.
82 Idem, ibidem.
83 Art. 372, do Código Civil de 1866, em vigor antes de 1974: “Se o marido surpreender a mulher em flagrante de adultério, e no ato a matar, ou ferir gravemente, ou ao cúmplice, será condenado em pena de desterro por seis meses para fora da comarca”.
84 “Então Vamos!” - Livro, editado pela ADCL, em 2021. O presente excerto integra o texto: Mulher Asa.

chamada à direção, inventou que se queimara para as poder vestir”.
Nestes tempos idos, que continuam de atalaia, sob o manto exultante da tradição e do conservadorismo, as mulheres em Portugal teciam as suas vidas em teares de silêncio, entretecendo os fios de uma existência moldada por normas e leis que silenciavam suas vozes. O peso das convenções sociais pairava sobre elas como um véu pesado, sufocando os seus sonhos e reprimindo os seus anseios. A liberdade era uma miragem. Apesar dessas adversidades, as mulheres, em Portugal, encontraram maneiras de resistir, alimentando a chama da esperança e lutando incansavelmente por uma sociedade mais justa e igualitária. Várias mulheres se destacaram na luta contra a ditadura, atuando em movimentos clandestinos e em organizações estudantis e sindicais. Mulheres como Maria Lamas85, uma jornalista e ativista, usaram a escrita como uma arma poderosa para denunciar as injustiças do regime e inspirar outras a se unirem à causa. Também, as autoras Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa (as três Marias86), escritoras e ativistas feministas portuguesas, ganharam destaque na década de 1970 pela sua colaboração no livro "Novas Cartas Portuguesas"87, publicado em 1972, expondo a opressão das mulheres, a censura e a falta de liberdade sob o regime autoritário de Salazar. Sem esquecer, Virgínia de Moura88, nascida em Guimarães em 1915, defensora incansável dos direitos laborais e sociais das mulheres; a qual lutou pela democracia, pela liberdade, pela igualdade de oportunidades e pela melhoria das condições de vida e de trabalho das mulheres portuguesas e cuja coragem e determinação fizeram com que fosse perseguida e presa várias vezes pela polícia política do regime, a PIDE89. Como estas mulheres, tantas mulheres, mais ou menos anónimas, de forma mais ou menos visível, quantas em silêncio, lutaram por um país mais justo e igualitário. Elas provaram que, mesmo em tempos de opressão, a força coletiva e a vontade de mudança podem prevalecer. O 25 de Abril representou o despertar de uma nova era. As leis opressoras foram abolidas, como grilhões
85 Maria Lamas (1893-1983) foi uma importante figura na história de Portugal, conhecida pelo seu trabalho como escritora, jornalista, ativista feminista e defensora dos direitos humanos. Maria Lamas teve uma vida marcada pela luta contra a ditadura e a promoção da igualdade de género e dos direitos das mulheres.
86 Maria Isabel Barreno (1939-2016), Maria Teresa Horta (1937) e Maria Velho da Costa (1938-2020), as "Três-Marias" são reconhecidas pelo seu trabalho literário e pelo seu papel fundamental na luta pela igualdade de género e pelos direitos das mulheres em Portugal.
87 "Novas Cartas Portuguesas", este livro foi censurado pelo regime salazarista e as autoras foram processadas por ofensa à moral pública. Este caso gerou uma onda de solidariedade internacional, tornando-se um marco na luta pela liberdade de expressão e pelos direitos das mulheres.
88 Virgínia de Moura (1915-1998) foi uma proeminente feminista e ativista portuguesa, conhecida pelo seu papel na luta pelos direitos das mulheres em Portugal.
89 Polícia Internacional e de Defesa do Estado – PIDE, foi a polícia política do regime autoritário do Estado Novo em Portugal, crucial para a manutenção do regime salazarista, e que tinha como objetivo suprimir a oposição política e qualquer forma de dissidência.

que finalmente se quebraram. As vozes das mulheres afirmaram-se com força e determinação. Em cada cravo a promessa de uma nova madrugada, onde a liberdade e a igualdade são pedras angulares de uma sociedade democrática e mais justa.
Com a queda do regime, as mulheres continuaram a desempenhar um papel vital na consolidação da democracia em Portugal e, desde logo, participaram ativamente na Assembleia Constituinte que elaborou a nova Constituição de 1976, garantindo a inclusão de direitos fundamentais para as mulheres.
Evocar Abril é reconhecer a igualdade entre homens e mulheres, é desenvolver reformas políticas, económicas e sociais, compatíveis com a salvaguarda das liberdades. É reafirmar a confiança no futuro de Portugal e no projeto democrático e pluralista construído coletivamente, espelhado na Constituição da República.
Ainda hoje perduram os saudosistas, autoritários e reacionários contrários aos direitos das mulheres, os quais não anseiam mais do que perpetuar a subserviência, deixando uma côdea e arrotando apenas e só por si mesmos, servindo-se de outros. Que mirre e definhe com o tempo, todo e qualquer movimento que visa o retrocesso civilizacional e floresçam as conquistas de tantos e tantas que lutaram pelos direitos humanos.
Abril que a tua memória, pessoal e transmissível, desdobrada em tantos pedaços de vidas, onde habitamos as memórias uns dos outros, seja clarividência e garante para um fardo que, com o coração e inteligência, nunca mais ousemos carregar. Pois quem esquece repete o erro, qual Sísifo90 numa reposição constante. Que nunca nos esqueçamos do passado, para que possamos moldar um futuro onde todas as mulheres possam viver livremente, como cravos desabrochando sob o sol da liberdade, da igualdade e da fraternidade.
Hoje, olhamos para trás com gratidão, mas também com a consciência de que ainda há caminho a percorrer. Observamos as nossas avós, as nossas mães e todas as que nos antecederam e continuaremos a lutar pelas nossas filhas, pelas nossas netas e pelas gerações que ainda não desabrocharam. Todas e por todas. Todos e por todos.
A luta pela igualdade é uma jornada contínua, uma busca incessante pela justiça e pela dignidade, não apenas em Portugal, mas em todo o mundo.
Cumprir Abril não foi tarefa do passado. Nem um ímpeto em que se repouse. É talha do presente, desassossego do futuro. Que a memória de Abril continue e inspire gerações.
90 A história de Sísifo é uma lenda da mitologia grega. Sísifo, rei de Corinto, desafiou os deuses e foi condenado por Zeus a uma punição eterna. Ele foi obrigado a fazer rolar uma pedra até o topo de uma montanha, apenas para vê-la cair novamente, repetindo essa tarefa infinitamente, sem esperança de sucesso. A história de Sísifo é uma lenda da mitologia grega antiga.
25 de abril sempre…mas sempre mesmo!
Amadeu Faria


Quando fui desafiado pelo meu amigo Jorge do Nascimento para escrever algo sobre a revolução de abril de 1974 (algo que não podia recusar a quem muito fez/faz pela luta pela liberdade e pela democracia), questionei-me em dois pontos essenciais: o que foi abril de 1974 e o que poderá ainda ser abril de 1974 em tempos de incerteza.
Para a primeira questão, pensei imediatamente naquela que considero ser uma das maiores revoluções pela democracia a nível mundial. Muitas vezes ainda se questiona se o 25 de Abril de 1974 foi uma Revolução ou se foi um golpe de estado.
A resposta sempre me pareceu simples se atentarmos em alguns pontos fundamentais. Em primeiro lugar, o 25 de abril de 1974, enquanto movimento de contestação ao regime fascista do Estado Novo (instaurado em 1933), era expectável e natural; muitos tinham sido os movimentos oposicionistas em Portugal, desde as primeiras tentativas de revolta militar, passando pela oposição democrática ao regime, pela oposição estudantil, em particular a partir de 1969, ou a oposição católica e o aumento da oposição a partir de 1961 e a eclosão da guerra colonial. A guerra colonial isolou, ainda mais, Portugal (regime do estado novo) da cena internacional, “obrigando” Salazar a exclamar o célebre “orgulhosamente sós”.
A exclusão da cena internacional, onde Portugal só era reconhecido por estados párias como a Espanha franquista, a África do sul racista e a Rodésia branca, teve o seu apogeu (na minha opinião), com a audiência do Papa Paulo VI aos movimentos nacionalistas africanos que lutavam nas colónias de Angola, Moçambique e Guiné, ou com a receção a Marcelo Caetano aquando da sua visita a Londres, em 22 de abril de 1973. Talvez se possa ver o aparecimento de um movimento corporativo (de início MOFA e depois Movimento dos Capitães) por parte dos militares que se opunham à publicação de um decreto que permitia a ultrapassagem de militares do quadro (nomeadamente capitães), por militares com uma formação mais rápida em virtude das necessidades para as operações coloniais (dos Decretos-Leis n. 353, de 13 de julho de 1973, e 409, de 20 de agosto do mesmo ano). Mas é a transformação deste movimento em MFA (Movimento das Forças Armadas)

que vai traçar objetivos de espectro mais vasto como seja o caso de reconquista da democracia em Portugal, libertando-se da primeira fase de movimento corporativo.
É assim que deve (na minha opinião) ser pensada a génese do 25 de abril de 1974. Mesmo com a suspensão dos decretos que citei anteriormente, a contestação ao Governo não abrandou. Pelo contrário, as reuniões destes militares continuaram e o movimento politizou-se. A recusa do regime em aceitar uma solução política para a guerra levou a que os oficiais responsáveis máximos do combate que se fazia (essencialmente capitães), começassem a pensar que o fim do conflito passava pelo derrube do regime do Estado Novo.
A situação, que começa a ser preparada em várias reuniões do Movimento dos Capitães onde a sua comissão coordenadora assume particular importância (Vasco Lourenço, Otelo Saraiva de Carvalho e Vítor Alves), agrava-se para o regime, com a publicação do livro “Portugal e o Futuro”, de António de Spínola; neste, António de Spínola, considerado um dos melhores e mais importantes generais do exército português, assume a sua rutura, ainda que tardia, com o regime considerando que a guerra só podia ser terminada com uma atuação política.
A 5 de março de 1974, o Movimento dos Capitães passa a designar-se Movimento das Forças Armadas e foram aprovadas as suas bases programáticas, que constam de um documento distribuído nos quartéis intitulado “O Movimento, as Forças Armadas e a Nação”. Podemos sintetizar este programa nos célebres três D’s: Democratizar, Descolonizar, Desenvolver.
A operação militar que põe fim ao regime, denominada “Fim de Regime”, e que na opinião de Vasco Lourenço foi “o mais brilhante exercício militar efetuado pelos militares portugueses”, é pensado por Otelo Saraiva de Carvalho (responsável único do Plano de Operações), secundado por nomes como Amadeu Garcia dos Santos, Rosado da Luz, Salgueiro Maia, Morais e Silva, Almada Contreiras, Franco Charais, Pedro Lauret, Vítor Crespo, Luís Macedo, Sanches Osório, Lopes Pires, Rui Guimarães, Santa Clara Gomes, entre os mais de 300 oficiais envolvidos), desenvolve-se da forma planeada e o regime, como um fruto apodrecido, cai com a rendição de Marcelo Caetano ao general António de Spínola, mandatado pelo MFA para receber o poder com o povo nas ruas a vitoriar a liberdade restaurada.
É para mim, neste dia 25 de abril, que o golpe se transforma numa Revolução. O apoio entusiástico da população de Lisboa e de todo o país ao MFA (que se estendeu para as mais diferentes cidades e vilas portuguesas, incluindo na cidade de Guimarães), a caminhada triunfal das tropas comandadas por Salgueiro Maia

até ao quartel do Carmo, as manifestações contra a PIDE por uma multidão de populares (e onde se verificaram as únicas mortes desta revolução e às mãos da PIDE), faz-me crer que, a partir de 25 de abril, o povo português derrubou o regime fascista.
O que vem depois… é uma história normal num país amordaçado por 48 anos de ditadura. Mas também, aqui, entra a segunda questão essencial. Se percebermos o que foi o 25 de abril de 1974, torna-se cada vez mais obrigatório pensar o que deve ser o sempre abril de 1974. Neste ponto, cada vez me recordo mais (e com saudade do projeto de cidadãos com as escolas denominado Núcleo de Estudos 25 de abril) de projetos de cidadania que falam, vivem, discutem e dialogam (com) abril de 1974… nas comunidades, nas escolas, nos nossos grupos, na nossa vivência diária, incluindo nas tão famigeradas redes sociais.
Num tempo em que há claramente uma guerra bem visível contra as democracias, guerra essa que se estabelece em fronteiras como a Hungria, a Turquia, a França com a extrema-direita e a extrema esquerda, Espanha, com fenómenos eleitorais como Bolsonaro ou, arquétipo da situação, uma possível reeleição de Donald Trump, as democracias liberais têm vindo a sentir uma espécie de torpor, de inação perante a força eleitoral destes movimentos de extrema-direita (o caso de Portugal com o Chega, suportado a maior parte das vezes por cálculos de índole político-partidária por outros partidos), é algo que nos têm de colocar disponíveis para a luta.
Quando, nos 50 anos após o 25 de abril, é eleito (democraticamente) como VP da casa de democracia portuguesa um cidadão que foi dirigente político do MDLP (movimento armado de extrema-direita), que defende pérolas filosóficas como a que a “escola deve preocupar-se em consolidar os valores culturais e civilizacionais judaico-cristãos e cívicos…; que a família natural é “heterossexual” e o Estado deve desincentivar casamentos e adoções por casais do mesmo sexo; ou que defende mesmo a extinção do Ministério da Educação, “uma tecnoestrutura blindada pelo PCP e BE, impossível de ser penetrada e reformada por qualquer ministro”, o caso já se torna muito preocupante.
Entendamo-nos! Uma democracia caracteriza-se pela liberdade de opinião e pelo direito a emitirmos, sem qualquer amarra estatal, o nosso pensamento. O que me preocupa bastante é que estas ideias baseadas nos “factoides” criados pelas redes sociais, na perda de identidade republicana da classe política e no desfasamento dos partidos democráticos perante a realidade populista, para lá de ganharem espaço, ganham um dinamismo cada vez maior e mais preocupante. Não é de todo surpreendente a viragem que se faz por parte de alguns grupelhos nacionais da importância do 25 de Abril passando-a para o 25 de Novembro. Todos estes

pontos podem ser combatidos ou se quisermos, esclarecidos. As apostas na informação (e não na deformação), no conhecimento (e não na ignorância), na educação (e não tão somente confiar para o Estado o saber ler, escrever e contar), são as armas de uma democracia. Tão simples seria explicar o que foi o 25 de Novembro enquanto recentrador para uma democracia liberal ocidental e não um projeto de traição reformista. Tão simples seria demonstrar que os líderes do 25 de Novembro se balizam no grupo dos 9 e na personalidade destes homens e de políticos como Mário Soares ou Francisco Sá Carneiro.
Por isso, estando preocupado e desiludido com os últimos resultados eleitorais em Portugal, não consigo estar pessimista. Abril é Abril e sempre será Abril. Cabe-nos a todos fazê-lo cumprir; cabe-nos a todos não embarcar na teoria de que a culpa é sempre dos políticos (não somos todos políticos?).
É aqui que a educação, os movimentos cívicos, a cultura, a nossa vida entra… combater, lutar “com as armas que temos à mão” pela democracia, pelo fazer cumprir Abril a e constituição da república portuguesa… Sempre!
Livro, espaço de liberdade e memória
Juliana Fernandes, Diretora da Biblioteca Raul Brandão


Começo este texto por explicar como relaciono a liberdade e a leitura: LER liberta porque nos encoraja, estimula, traz-nos conhecimentos, revela-nos quem somos ou quem gostaríamos de ser; ajuda-nos a ver o mundo, a despertar sentimentos, a respeitar os outros e a conquistar sonhos.
Ler dá-nos aptidões para pensar sobre o mundo, a descobrir conceitos, a recolher informações, a obter uma visão mais compreensível da realidade e principalmente a fazer escolhas. E essa possibilidade de escolha, oferecido pela leitura, significa que podemos construir a nossa liberdade a partir da ação de ler.
As Bibliotecas, através dos seus livros e de quem nelas trabalha, procuram mostrar o verdadeiro potencial da leitura enquanto veículo de liberdade. Daí o seu papel de incentivar a leitura junto dos mais jovens (e não só), para que cresçam mais autónomos, mais críticos, mais felizes e, sobretudo, mais humanos. Enquanto formadores de pequenos leitores, o simples facto de incentivarmos à leitura vai muito para além do que pensamos, porque o ato de ler permite-nos mostrar-lhes, a partir do texto, a diferença entre o bem e o mal, a felicidade e a tristeza, o amor e o ódio, a realidade e o inventado, a complexidade e a simplicidade, ou seja, possibilita mostrar que a leitura para a liberdade significa abrir portas para que cada pessoa (jovem ou não) se descubra e percecione o mundo que a rodeia. Acima de tudo, a leitura é uma das grandes formas de aceder à cidadania.
Os livros ajudam a explicar os desafios da atualidade: preservação do ambiente, guerras, crescimento dos populismos, economia, habitação, entre muitos outros. O LIVRO certifica a divulgação de conhecimentos e ideias para uma sociedade livre e mais informada.
De seguida, elenco alguns motivos pelos quais os livros e a liberdade estão interligados:
- Liberdade de Expressão - os livros servem como veículos para a expressão livre de ideias, opiniões e perspetivas. Os autores têm a liberdade de partilhar as suas visões e desafiar as normas sociais através das suas obras;
- Acesso ao Conhecimento - os livros são fontes primordiais de conhecimento, instruindo as pessoas e

capacitando-as a tomar decisões informadas. O acesso ilimitado a uma variedade de livros contribui para a liberdade intelectual;
- Desenvolvimento Pessoal e Empoderamento - a leitura pode ser uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento pessoal. Os livros oferecem visão, inspiração e experiências, habilitando os leitores a alargar as suas perspetivas e a tomar decisões fundamentadas;
- Preservação da Memória e da História - os livros têm um papel importante na preservação da memória coletiva e da história. Eles documentam acontecimentos, culturas e experiências, garantindo que as gerações futuras tenham acesso ao conhecimento do passado e compreendam as lutas pela liberdade;
- Ficção e Imaginação - a literatura de ficção desafia as barreiras da realidade e desperta a imaginação.
A liberdade de criar pode trazer inovação, novas formas de pensar e de questionar os padrões estabelecidos;
- Promoção da Diversidade e Tolerância - os livros ajudam a promover o entendimento e a tolerância ao expor diferentes culturas, visões e modos de vida, contribuindo para uma sociedade mais tolerante e inclusiva.
Os Livros e o 25 de abril de 1974
A relação entre livros e liberdade é complexa e multifacetada, abarcando várias dimensões sociais, culturais e individuais.
A ignorância e a ditadura andam a par. As décadas de ditadura são, na mesma medida, as décadas que deram origem ao maior défice estrutural de um país, que é o do conhecimento!
Os nossos tempos, após 50 anos de Abril, devem ser do conhecimento e da democracia, devem ser do livro e da liberdade, devem ser do livro livre, cientes de que todos os livros contribuem, de alguma forma, para a construção de uma memória e identidade coletivas.
É importante destacar que, em algumas sociedades, a liberdade de publicação e leitura é coartada pela censura, pelas proibições ou limitações impostas por autoridades governamentais.
Muitos foram os livros que a PIDE/DGS proibiu em Portugal, antes da Revolução de Abril. No país de um Prémio Nobel da Literatura, os escritores tiveram um papel determinante ao retratar a sociedade portuguesa e ao denunciar as dificuldades dos portugueses. Antes e depois de Abril, os livros continuam a ser o

retrato da Liberdade.
A luta pela liberdade estende-se à proteção do acesso total aos livros e à garantia de que diferentes vozes possam ser ouvidas.
Apresento meras sugestões de livros que exploram o conceito de "espaço de liberdade e memória": A Menina que Roubava Livros, de Markus Zusak; O Nome da Rosa, de Umberto Eco; O Perfume, de Patrick Süskind; A Sombra do Vento, de Carlos Ruiz Zafón; O Jardim Secreto, de Frances Hodgson Burnett; O Livro do Sal, de Monique Truong; Ensaio sobre a cegueira, de José Saramago; Quando os lobos uivam, de Aquilino Ribeiro; Esteiros, de Soeiro Pereira Gomes; Capitães da Areia, de Jorge Amado.


15 de abril de 1973 – no sindicato têxtil vence uma lista progressista
Jaime Marques91
Um ano antes do dia da Liberdade, pela primeira vez na história dos sindicatos com sede em Guimarães, uma lista de gente progressista, liderada por um operário da empresa Coelima, João Ribeiro, um cidadão com uma intensa atividade política no movimento oposicionista (MDP/CDE) derrota uma lista da situação, presidida pelo Presidente do Sindicato, na altura, Urbano Moreira, dirigente concelhio da ANP (Ação Nacional Popular), único partido permitido pelo regime fascista.
Até essa data, não havia notícia de grandes lutas dos trabalhadores têxteis, na nossa região, embora a polícia política tivesse feito algumas prisões de trabalhadores, na década de 50 e 60, acusados de pertencerem ao Partido Comunista, pelo que a luta contra o fascismo era conduzida essencialmente por intelectuais e pequena burguesia.
A partir dos anos 60 houve um grande crescimento da Indústria Têxtil, na região de Pevidém e na zona de Moreira de Cónegos /Vizela, e, por isso o Sindicato Têxtil ganhou grande importância, pelo elevado número de associados, pois, o regime, ao criar os sindicatos corporativos, obrigou a que todos fossem associados e todos tivessem direito ao voto, a partir dos 18 anos.
Só que o Sindicato, situado na Rua de Camões, era um local que pouco dizia aos trabalhadores, que tinham receio de apresentar qualquer reclamação, já que o trabalhador quando o fazia era repreendido pela entidade patronal, que era de imediato avisada. Não admira, por conseguinte, que os trabalhadores estivessem completamente alheados da vida sindical e as Direções fossem constituídas por encarregados e pessoas afetas ao regime vigente. O Sindicato limitava-se a distribuir, quase exclusivamente, livros escolares aos filhos dos associados.
Entretanto, em meados da década de 60, o Partido Comunista entendeu que a luta sindical poderia ser uma frente de luta contra o regime e começaram a aparecer listas de gente progressista em vários Sindicatos
91 O escriba deste texto tinha, na altura, cerca de 20 anos, sendo já associado do Sindicato, e, por isso, participou com paixão nesta jornada de luta, sendo o delegado da lista vencedora.

(Bancários, Escritórios, Comércio, Metalúrgicos, etc.…), que venceram as eleições, apesar de muitas dificuldades para concorrer e muitas mesmo depois da vitória, pois foram anuladas e muitos dirigentes foram presos.
Em 1970/71, uma lista de trabalhadores têxteis tentou concorrer à secção de Delães e foi impedida, apesar de todo o apoio jurídico que tinha de advogados da oposição.
Recorde-se que havia uma Comissão de Verificação das listas concorrentes, que julgavam a idoneidade dos candidatos e era soberana nas suas decisões.
Na empresa Coelima, trabalhava muita gente de Riba D’ Ave, e, por isso, essa luta teve efeitos nessa empresa, sendo as primeiras reuniões feitas no Café São Jorge (Pevidém), com trabalhadores da empresa Coelima e de outras empresas da região, em meados de 1972.
O movimento depressa cresceu, com a participação de elementos da JOC e da LOC, organizações da Igreja, alargou-se à cidade, com uma reunião na sala dos fundos da Pastelaria do Supremo Gosto. Todos poderiam participar, desde que não estivessem comprometidos com o regime. Havia uma vontade grande de mudança e, no início de 1973, foram requisitadas as instalações do Sindicato para reuniões.

Sede do Sindicato Têxtil, Rua de Camões
Em 5 de março de 1973, aquando da Assembleia para aprovação de contas, acorreram ao Sindicato cerca de 500 associados, facto inédito que levou o Presidente a recusar-se a discutir qualquer assunto de interesse para a classe, nomeadamente o processo eleitoral, marcado para o dia 15 de abril desse ano. Era o despertar para uma mudança que se adivinhava.
Entretanto, faltava vencer uma difícil barreira, que era ultrapassar todo o processo burocrático, inerente ao processo de candidatura, de que o regime se servia para anular as listas que não fossem do seu agrado. A tal Comissão de Verificação exigia certificados de habilitações de eleitores e de “bom comportamento”. O Governador Civil de Braga, Dr. Manuel Ascensão Azevedo, que havia sido recentemente empossado no cargo,

chamou os principais dirigentes da lista e fez um longo interrogatório, com a preocupação fundamental de que não houvesse nenhum comunista na lista. Apesar de todas as dificuldades, a lista foi admitida, denominada lista C.
Vencida esta barreira, havia que lutar contra as manobras da lista do poder, que lançou um comunicado a apelar aos associados a votar “pela Paz e Tranquilidade do Nosso Povo” e iniciou uma campanha de votos por correspondência, com ajuda dos patrões e dos seus encarregados.
No Dia das Eleições - Uma Festa - Um mar de gente, na Rua de Camões
No dia 15 teve lugar o ato eleitoral, e, pelas 8 horas, era já grande o número de pessoas presentes. O ato iniciou-se, pelas 9 horas, e só terminou, pelas 21 horas, com uma votação ininterrupta e cada associado tinha que estar na fila 2/3 horas para votar. Só havia uma mesa de voto, os cadernos eleitorais eram constituídos por folhas avulsas datilografadas, os associados eram obrigados a mostrar o cartão de identidade e o cartão de associado e, no final, tinham que colocar a sua assinatura. Um processo muito moroso e que levava à desmobilização de muitos presentes, apesar do ambiente de festa que se vivia, com a Lurdinhas de Urgeses, dos católicos progressistas, uma apoiante da lista desde o início, a comprar e a distribuir “paciências” pelos presentes.
O Presidente da Mesa, pressionado pela Direção, ainda tentou descarregar os votos por correspondência, o que atrasaria o início da votação, com a possível desmobilização dos presentes. As centenas de trabalhadores presentes ameaçaram destruir as instalações do Sindicato e o ambiente de confusão que se seguiu poderia ter dado origem à intervenção das forças policiais, com a consequente anulação do ato eleitoral.


Só por volta das 5 horas da madrugada foram anunciados os resultados. A lista da Oposição tinha vencido duma forma categórica com 712 votos e anulados 166. A lista afeta à Direção teve 121 votos e 137 anulados. Foi uma votação inédita, que poderia ter sido muito maior, se o processo de votação não fosse tão complicado e moroso. As dezenas de presentes, até aquela hora, de imediato fizeram a festa e houve lágrimas de alegria.

Logo de seguida foi lavrada a ata e assinada pelos membros da mesa e delegados das listas. Quando, pela manhã, o governador civil telefonou a perguntar pelo resultado e recebeu a notícia de que a lista de oposição tinha ganho, tentou anular o ato eleitoral, só que era um escândalo, e já era tarde demais.
Eis os nomes dos eleitos: DireçãoJoão Manuel Oliveira Ribeiro (Presidente), Abílio Lopes das Neves e Agostinho Rodrigues P. Guimarães; Assembleia Geral – Joaquim Armando Silva Barros, Américo Mendes Coutinho e Maria Sameiro Pereira da Silva; Suplentes - José Ribeiro Faria, Francisco Lopes Pinto e Joaquim da Silva Fernandes.
Em 3 de Maio deu-se a tomada de pose e começou nova vida. Os trabalhadores acorreram ao Sindicato para saberem os seus direitos e começou-se a publicar um Boletim Informativo, que servia para denunciar todas as injustiças de que os trabalhadores eram vítimas e que teve uma grande aceitação junto dos trabalhadores. Como curiosidade, o consultor jurídico do Sindicato, Dr. João Gomes Alves, foi substituído pelo seu irmão, Dr. Fernando Gomes Alves, um advogado muito ativo no movimento democrático (MDP/CDE).
No dia 1 de junho, pela primeira vez, o dia foi comemorado com a presença de muitas mães trabalhadoras, com um colóquio, e foi distribuído um postal alusivo ao tema feito por uma criança, Isabel Santos Simões. Já antes a esposa de Santos Simões, Dra. Açucena, tinha dinamizado um grupo de trabalhadoras têxteis (Lurdinhas, Sameiro, Armandina, etc…) e faziam reuniões, embora poucas aparecessem, pois vivia-se,

numa época em que as mulheres tinham dificuldades em participar, apresentando uma tese ao Congresso da Oposição Democrática (Aveiro).
O Sindicato Têxtil aderiu, de imediato à Intersindical, participando nas reuniões e tem mesmo lugar uma reunião nas instalações do Sindicato. Por isso a PIDE (DGS) começou a não gostar das atividades do Sindicato e começou a controlar bem de perto, com a presença de um elemento dessa polícia política, na Pastelaria Vimaranense.

O regime fascista caiu quando o sindicato desenvolvia já um trabalho importante e por isso o Sindicato Têxtil foi desde logo uma das mais importantes organizações a apoiar o regime democrático e a mobilizar os trabalhadores para o dia 1.º de Maio e para as lutas que se seguiram de consolidação do novo regime.
Quando no final de maio é instituído o salário mínimo nacional de 3 300 escudos (à volta de 16 euros), este vai beneficiar mais de 90% dos trabalhadores têxteis, o que diz bem dos salários de miséria que eram praticados neste setor.
O meu 25 de Abril de 1974
Isabel
Santos Simões


O dia amanheceu como tantos outros. No antigo Liceu Nacional de Guimarães, que frequentava, as aulas decorreram como habitualmente, dentro das normas conservadoras e retrógradas daquele Portugal de então.
Mais tarde, já em casa, recordo que houve uma alteração de rotina: a explicação que era suposto ter com a minha mãe, juntamente com uma amiga, para nosso contentamento foi cancelada. Mas dado a minha mãe manter a calma de sempre, não atribuí qualquer importância. Nem suspeitei que a liberdade estava quase a passar por aqui.
Tudo se alterou quando, ao final do dia, me vi envolvida por múltiplos abraços, dos meus pais, seus amigos e companheiros de luta, e emocionados celebrámos a liberdade.
A 26 de Abril já não cheguei a entrar no Liceu, todos os alunos se juntaram espontaneamente numa enorme manifestação, que foi crescendo com a adesão dos estudantes das outras escolas e que percorreu as ruas da cidade, numa explosão de alegria indescritível.

Nunca esquecerei aquele momento em que, chegados à antiga Escola Industrial e Comercial de Guimarães, vi a minha mãe com o seu sorriso resplandecente, no meio dos colegas na varanda da sala dos professores, todos exultantes. E, durante a tarde, a comoção e o orgulho ao ver o meu pai a discursar na praça do

Toural, repleta de gente entusiasmada.
Memórias inesquecíveis de momentos felizes, resultantes da luta e sacrifício de tantas e tantos, que, como os meus pais, corajosamente combateram a ditadura.
Que nunca sejam esquecidos.
25 de Abril sempre!


25 de Abril Sempre, esquecimento nunca mais
César Machado
A série televisiva produzida pelo “Bando à Parte”, com mão segura de Rodrigo Areias, realizada por Edgar Pêra e Carlos Amaral, com argumento de Pedro Bastos e César Machado, que a RTP trará ao público no decurso de 2024, nas comemorações dos 50 anos de 25 de Abril, pode ser enquadrada a partir de três grandes momentos, separados por intervalos de dez anos.
O momento central e decisivo ocorre em 2014, escassas semanas depois do lançamento do livro “Guimarães Daqui Houve Resistência”. O Rodrigo tinha participado na apresentação pública do livro realizada na sede da saudosa ACIG, Associação Comercial e Industrial de Guimarães. E tinha já lido alguns dos depoimentos que o livro nos deixa como testemunhos. O desafio foi claro: - traduzir “aquilo” em cinema e ter tudo pronto para apresentar dez anos depois, em 2024, nas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. Pouco tempo depois percebeu-se que o frequente cruzamento das frentes de acção que a realidade mostrava, tão rica ela era, exigia coisa de maior fôlego que um filme. Seriam vários filmes. E passou a série televisiva. Ainda estamos em 2014. Ainda havia dez anos pela frente.
Dez anos antes, em 2004, por ocasião dos 30 anos do 25 de Abril, naquela mesma sede da ACIG tinha-se realizado um debate que me coube moderar com a intervenção de Santos Simões, Eduardo Ribeiro, José Casimiro Ribeiro, Alberto Martins e João Ribeiro. Logo ali ficou clara a extraordinária riqueza daqueles testemunhos que vinham de tempos bem recuados das lutas contra a ditadura, desde os duros

Guimarães Daqui Houve Resistência


anos quarenta às Eleições de Humberto Delgado, em 1958, da enorme e persistente acção dos Democratas de Braga (distrito), sobretudo a partir dos anos 60, até às Lutas Académicas, com o relevantíssimo farol da Crise de 1969, Coimbra, das Lutas Sindicais, com trabalho partilhado entre comunistas e católicos progressistas, que viria a traduzir-se na vitória eleitoral da lista afecta a estas forças, em 1973, até à Luta Armada, com acção mais “pesada” a decorrer, em Paris, Lisboa, Roterdão ou Checoslováquia, de tudo havia uma imensidão de lutas para recordar, de factos que era proibido esquecer. Sobretudo a evidência da dimensão que a luta atingiu nesta nossa região - e que ali se mostrou tão viva - tornou óbvia a obrigação de prosseguir para contá-la, trabalhar para resgatar aquelas memórias, registando-as, permitindo facultá-las a muitos mais do que os felizes contemplados com a presença naquela sala em tão rica troca de relatos da luta pelo combate certo. Essa obrigação tornou-se óbvia. Era o único modo de combater o esquecimento. A riqueza daqueles testemunhos não deixava outra saída.

O período que se seguiu permitiu perceber, desde logo, a importância fulcral do Grupo dos Democratas de Braga, uma força única e fundamental sem a qual não é possível perceber a organização, competência, tenacidade e percurso

consequente da Oposição ao regime desenvolvida nesta nossa região.






O distrito de Braga teve singularidades muito especiais. É bem sintomático que nas eleições de 1957 e 1965 só neste distrito a Oposição Democrática tenha disputado as eleições até ao fim, por exemplo. Ou que tenha partido desta região o célebre documento “Vai-te embora António”, com mais de cem assinaturas, em que se apelava a Oliveira Salazar para que, atentos os seus consabidos princípios patrióticos, se demitisse visto não ter já quaisquer condições para governar o país, desafio que viria a irritar superiormente o ditador, com desejo manifestado de reabrir o Tarrafal para ali encarcerar todos os signatários de tão iluminado documento, coisa de que viria a desistir. Ora, perante tanta acção, tanta luta, tanto combate, a pergunta que se colocava desde o início desta fase do trabalho era óbvia: “Mas como é possível que tudo isto permaneça no silêncio, como não falar disto, como não descrever, invocar, ter presente? Como esquecer o que se passou com a resistência em Fafe, Guimarães, Vila Nova de Famalicão, Braga, Celorico de Basto, como é isto possível? Como deixar passar a ideia de se resumir a Pide à “António Maria Cardoso”? E na Rua do Heroísmo, nada se passou? Nos Tribunais Plenários na Rua Formosa, na cidade do Porto, nada aconteceu?” Como se pode passar ao lado daquele núcleo fundamental do Grupo dos Democratas de Braga (distrito)? Victor de Sá, Lino Lima, Santos Simões, Eduardo Ribeiro e Humberto Soeiro? Como não lhes fazer a justiça devida? Isto, sem prejuízo de recordar outros resistentes, homens e mulheres que rijamente se bateram em lutas tão justas quanto desiguais.
O trabalho seguinte era organizar estas memórias com resistentes das mais variadas frentes que nesta nossa região travaram duras batalhas. E de outros que daqui saíram para lutar noutras paragens. Houve, ainda, ocasião para ouvir relatos de outros que, vindos de fora, aqui vieram desenvolver as suas lutas.

Depois de longos tempos a maturar a ideia passou-se à acção, à realização do livro. É justo recordar que a publicação do livro não teria sido possível sem o apoio do colectivo do Cineclube de Guimarães. Do Paulo Cunha, da Alexandre Xavier, no feliz design gráfico, do Nuno Rocha Vieira, com as inspiradíssimas ilustrações, e do Carlos Mesquita e Amaro das Neves, em tudo. Isto, para além da própria edição do livro ter sido do Cineclube de Guimarães, facto decisivo. Fazia todo o sentido que o livro fosse editado por uma Associação Cultural de Guimarães e, a ser uma – com todo o respeito pelas demais - o Cineclube era a resposta óbvia. Como foi.
Do livro publicado em 2014, após ciclo de maturação, investigação e trabalho feito sem pressa ao longo de dez anos, nasceu o convite/desafio do Rodrigo Areias, como se disse, para, igualmente sem pressão, ter trabalho feito dez anos depois, em 2024. Aqui iniciou-se outro tipo de trabalho. Desde logo de encontrar o cruzamento das histórias, perceber os seus cruzamentos. De investigar outros factos, de contexto, que davam corpo aos testemunhos dos nossos heróis. E isto durou anos.
Em 2020, avançou-se para o designado “tratamento” da série televisiva, aqui já num trabalho a quatro mãos com o Pedro Bastos, homem do cinema, da linguagem cinematográfica. Um vasto documento a dizer ao que vínhamos, o que queríamos contar, como queríamos contar. Entrou-se numa fase de grande criação, porventura irrepetível. Depois de um primeiro apoio à escrita, do tratamento passou-se à elaboração do argumento, num trabalho a dois, com acompanhamento do Rodrigo Areias e do novo amigo e realizador Edgar Pêra, que cedo se juntaria ao projecto. Obtidos os apoios necessários para tão grande empreitada a equipa cresceu imenso. Viria a juntar-se outro realizador, o Carlos Amaral, que partilharia a tarefa com o Edgar. Aqui o assunto era já cinema. Com a sua linguagem, com as suas especificidades, com as suas realidades muito próprias.
O que se pretende com a série Daqui Houve Resistência? Haverá diferentes pontos de vista consoante a perspectiva dos diferentes sujeitos desta acção, com certeza. Julgo, porém, que será comum a todos dizer que se trata de prestar tributo aos que, em circunstâncias dificílimas, travaram corajosos combates contra a ditadura de Salazar/Caetano, nesta região, e que a história vem insistindo em não recordar, em quase esquecer.
Pela parte que nos toca, o esquecimento não vencerá. Como alguém diz num depoimento do livro, “A vitória do esquecimento é a derrota da liberdade”. Nós preferimos dizer “25 de Abril Sempre, esquecimento nunca mais”.
