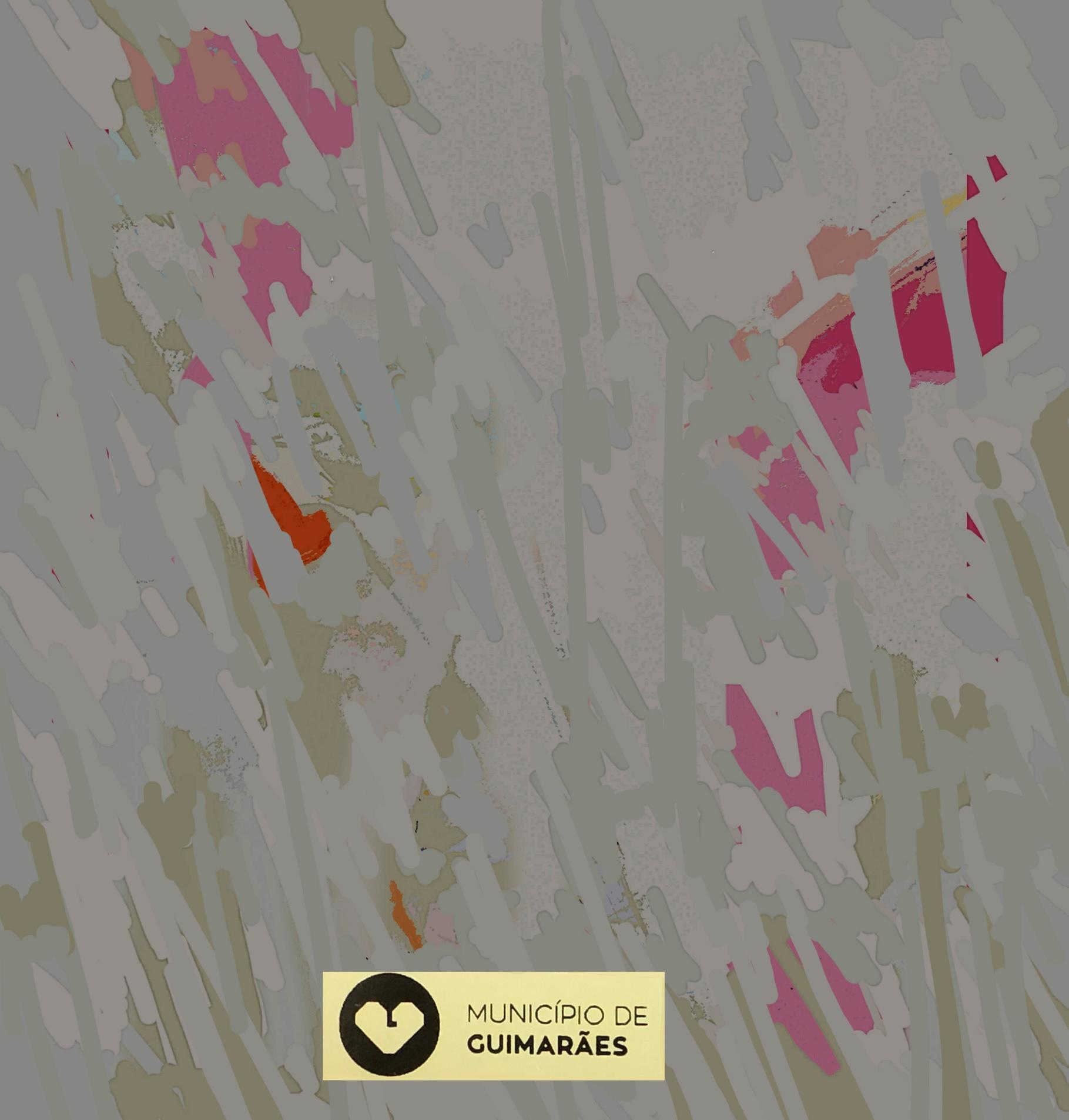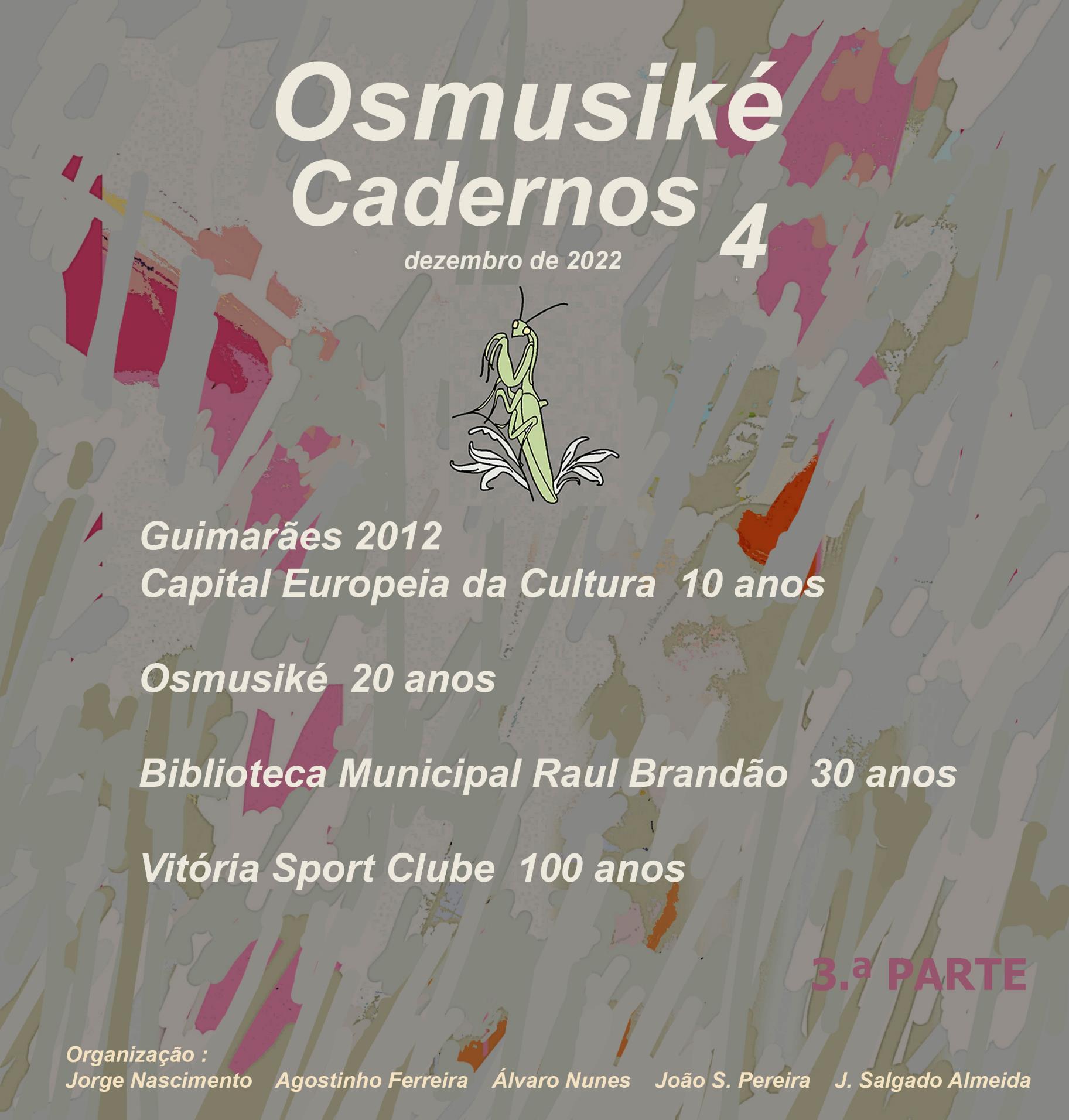


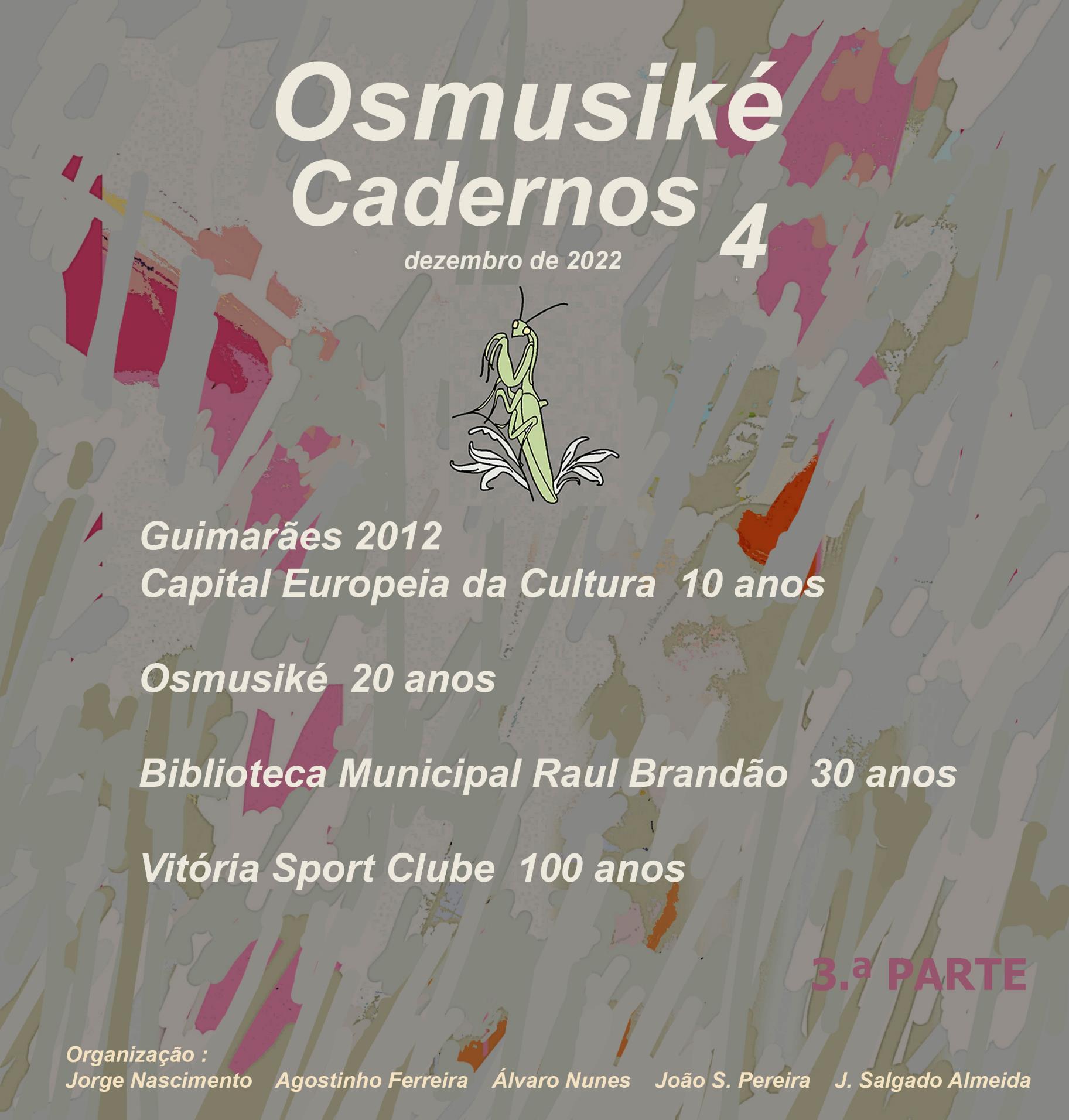


Título: OsmusikéCadernos4
Diretor: Jorge Nascimento
Equipa redatorial: Jorge Nascimento, Agostinho Ferreira, Álvaro Nunes, JoãoS. Pereira, J. Salgado Almeida
Conceção gráfica: João Silva Pereira, J Salgado Almeida, Jorge Nascimento, Agostinho Ferreira, Álvaro Nunes
Capa: J. Salgado Almeida
Revisão: Agostinho Ferreira, Álvaro Nunes, Jorge Nascimento, João Silva Pereira
Ilustrações: J Salgado Almeida, Local de edição: Guimarães
Propriedade e edição: Osmusiké, osmusike@gmail.com - www.osmusike.pt Escola Secundária Francisco de Holanda, Alameda Dr. Alfredo Pimenta, 4814 528 Guimarães
Ano e mês: 2022, dezembro
Páginas: 742
ISSN: 2975-8041

Coprodução: Município de Guimarães
Notas: 1 - Todos os artigos que integram OsmusikéCadernos4 são da responsabilidade dos autores; 2 - Respeitando a opção individual de cada um, apresenta-se a ortografia portuguesa com ou sem o acordo ortográfico;
3 - Quando os textos estão assinados com afiliação profissional, os cargos referem-se à data em que os mesmos textos foram escritos.
Notas para a versão e-book - Por razões técnicas, a revista será dividida em 3 partes.
A 1.ª parte, além dos textos de abertura, aborda as efemérides da CEC 2012, dos 30 anos da Biblioteca Raul Brandão e dos 20 anos da Associação Osmusiké;
A 2.ª parte é integralmente dedicada ao centenário do Vitória Sport Clube;
Na 3.ª parte, com a participação de dezenas de autores e colaboradores, são abordados, de uma forma plural, outras temáticas que têm Guimarães como centro
483
As Muralhas de Guimarães, ‘monumento nacional’ 485 Lino Moreira da Silva
O Teatro Jordão 515 Álvaro Nunes

Coordenação de J. Salgado Almeida
521
Feira da Cidade – Óleo sobre contraplacado 523 Adelino Ângelo
Vitória de Guimarães – Escultura em resina da polyester 524 Óscar Guimarães
Sem título – Acrílico sobre tela 525 Vítor Costa
Devaneio do olhar – Composição digital 526 J. Salgado Almeida
“Oh! As belas cores da guerra” – Guache sobre cartolina 527 Filomena Bento
Canned art – Óleo sobre tela 528 Viana Paredes
Sem título – Acrílico sobre tela 529 Amadeu Santos
Sem Título - Desenho a tinta sépia 530 Vasco Carneiro
Arte Pública em Guimarães 531 J. Salgado Almeida
O Pedralva 540 Equipa redatorial
Mestre Caçoila - “pintor aos domingos” 542 J. Salgado Almeida
Uma Exposição Diabólica 546 Equipa redatorial
Teresa Almeida no Museu do Vitral do Porto e Núcleo de Arte Contemporânea do Museu do Vidro da Marinha Grande 550 Equipa redatorial
O Elogio da Pintura 552 Amadeu Santos
In memoriam Paula Rego 553 Filomena Bento
Guima, o Beethoven da pintura 556 J. Salgado Almeida
In memoriam Ny Machado: mulher artista; pintora da mulher 558
Coordenação de Álvaro Nunes
Agustina Bessa-Luís - A Criança Centenária 562
José Craveirinha 567

José Saramago - Um Nobel Centenário 573
OS LUSÍADAS, nos 450 anos da primeira edição 584
Pascoaes e Raul Brandão 590
Antero de Quental - Um génio que era santo… 592
Alfredo Pimenta 598
Álvaro Magalhães, 40 anos de vida literária 605
In memoriam Ana Luísa Amaral 607
In memoriam Vítor Aguiar e Silva 610
O Clube d’O Rei” – 100 Anos 100 Cartoons 615
Miguel Salazar
Viagem pelo topo do mundo 616 Equipa redatorial
Aviso ao povo para não morrer de bexigas 618 Manuel José de Passos Lima
Esvoaçam sentimentos dispersos 620 Amélia Fernandes – Poetisa d’Arosa
Viagem de Encantar Para o Planeta Salvar 622 Júlio Borges
A lanterna que aquece o mundo 622 Paulo César Gonçalves
Relatório de uma vida 623 Bernardino Oliveira Pina
Guimarães sempre no coração 624 Adélia Pires
A vida e a cor das palavras 626 Trabalho coletivo dos alunos do 2ºB e 3ºA da Escola de Santa Luzia – AEFH
A Missão das Cidades no Combate às Alterações Climáticas: A governação multinível para o êxito da saúde planetária 628 Jorge Cristino
A visão de uma adolescente 629 Andreia Gonçalves
O Sorriso é a morte de todos os medos 631 Carlos Guimarães
Eu era gajo 632 Rui Vítor Costa
Nascimento da Unidade Vimaranense 633
Esser Jorge Silva
ERA UMA VEZ…UMA VIDA, UMA ESPERANÇA -635 Romance autobiográfico de Hermenigildo da Encarnação
Memórias de Creixomil – A Visita Pascal 636 Maria Fátima Carneiro
Padre João Francisco Ribeiro, 50 anos ao serviço de Creixomil 637 Maria de Fátima Carneiro
DEMOCRACIA–CRISTÃ UMA HERMENÊUTICA CONTEMPORÂNEA 637
Orlando Coutinho
Ondeando 638 Tiago Simães
A raridade das coisas banais 639 Pedro Chagas Freitas
Era (e é) uma vez o Vitória 640 Paulo César Gonçalves

643
A conquista da soberania popular 645 Carlos Vasconcelos
Liberdade ainda que tardia 648 Rafael Moura
100 anos da travessia aérea do Atlântico Sul invocados na Penha 652 Equipa redatorial
II Centenário do Azemel Vimaranense 655 Equipa redatorial
Tratado de Tagilde tem 650 anos 657 Equipa redatorial
O centenário do nascimento do Dr. Augusto Monteiro Dias de Castro (1922-2022) 659 António José de Oliveira
José Maria Pedrosa d’Abreu Cardoso: O seu contributo para Guimarães 663 Daniela Cardoso
Adriano Correia de Oliveira 666 Equipa redatorial
75 anos do diário de Anne Frank 667 Equipa redatorial
Romaria Grande de S. Torcato festeja 170 anos 668 Equipa redatorial
Os Bombeiros Voluntários de Guimarães assinalam 145 anos de vida 673
João Pedro Castro
Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro de Guimarães: 50 anos ao serviço dos Transmontanos radicados em Guimarães 674 Joaquim Coutinho
20 anos de Serviço Público de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais em Guimarães e Vizela 678
Armindo Costa e Silva
Nos 105 anos do Orfeão de Guimarães 680 António Manuel Gomes
JUNI – uma história com 50 Anos 682 Guilherme Ribeiro
Revista nacional "O CHARADISTA" 688 Equipa redatorial
VI. GENTE DA NOSSA TERRA 691
Equipa redatorial
Abade de Tagilde 693

Alberto Vieira Braga: Nos 130 anos do seu nascimento 696
Delfim de Guimarães -699
Padre Torcato Peixoto de Azevedo: No 4.º Centenário do seu nascimento 704
Alfredo Guimarães foi um dos intelectuais vimaranenses mais interessantes da sua época 707 Maria José Queirós Meireles
Emídio Guerreiro 710 Maria Eva Machado
Equipa redatorial
-715
Santos de Guimarães -717 Equipa redatorial
Nossas Torres de Babel - A extinta Romaria de São Tiago 722 Silvestre Barreira
A Devoção a S. Nicolau e a sua Capela 724 Carlos Manuel Leite Ribeiro de Sousa
Sino mais antigo em uso em Portugal - Poderá ser o da capela de Santa Catarina da Serra - Penha 730 Armindo Cachada
733
Eu (também) sou de Guimarães 735 Nuno Mata
Relatório de uma Vida - Família Vimaranense no “eixo” Guimarães – Lisboa 737 Bernardino Pina

Alguns espaços de memória e monumentais constituem este bloco do passado que marca as nossas raízes, mais remotas e mais recentes, que no presente e no devir merecem a atenção coletiva da comunidade vimaranense. Deste modo, em deambulações diacrónicas sobre as Muralhas de Guimarães, desde as suas origens até ao presente, Lino Moreira da Silva chama a atenção para a necessária celeridade e determinação para o reconhecimento do que resta da Muralhas de Guimarães e a sua classificação como Monumento Nacional.
Paralelamente, divaga-se sobre o Teatro Jordão de outrora e de hoje, desde a sua abertura em 1938, sob a égide empreendedora de Bernardino Jordão, até à sua refuncionalização recente.

As Muralhas de Guimarães, ‘monumento nacional’
Lino Moreira da Silva

Dando resposta ao convite que me é feito, para colaborar na presente publicação, vou referir-me às antigas ‘Muralhas de Guimarães’1, tema que, sendo relevante, merece que se volte a ele, sempre que oportuno.
Assim o considerando, proponho-me apresentar um modesto contributo, no sentido do reconhecimento, cujo processo julgo estar em curso, do que resta dessas venerandas Muralhas, como ‘Monumento Nacional’.
As informações históricas chegadas até nós permitem-nos estabelecer que as Muralhas de Guimarães terão tido origem na Torre2 (possivelmente assente nas ruínas de outra torre...) mandada edificar pela Condessa Mumadona (900-968), para defesa do Mosteiro que instituiu e do povoado3 que foi crescendo à sua volta.
Depois de Mumadona, intervieram, nessa estrutura de defesa, D. Henrique (1066-1112), que se instalou no local, e seu filho, D. Afonso Henriques (1111-1185). A ordens de D. Afonso III (1210-1279), D. Dinis (12611325), D. Afonso IV (1291-1357) e D. Fernando (1345-1383), a Vila foi dotada de novos Muros (a ‘Cerca
1 ‘Muralhas’ ou ‘Muralha’? A pergunta é pertinente, como em ‘Paços dos Duques’ ou ‘Paço dos Duques’, ‘Paços Municipais’ ou ‘Paço Municipal’, ‘Casas do Arcebispo D. José de Bragança’, ou ‘Casa do Arcebispo D. José de Bragança’ – ‘plural de quantidade’ e ‘plural de qualidade’. Assim, é correto designar a antiga Cerca de Guimarães, tanto pelo singular, como pelo plural – Muralhas ou Muralha (L. M. Silva, 2015, p.72) Adoto o plural ‘Muralhas’, por me parecer mais expressivo e adequado, e até de uso mais comum.
2 T. P. Azevedo, 1845, p.186, p.158-161. A. J. F. Caldas, 1996, pp.404-406. F. X. S. Crasbeeck, 1992, p.74. J. Meira, 1921, pp.198-200. DGEMN, 1937, p.7. A. Guimarães, 1940, pp.6-7. J. M. Machado, 1985, p.42. M. C. F. Ferreira, 1986, pp.85-87. As obras de Mumadona foram rápidas, o que leva a supor terem sido uma reconstrução. Assim escreve Estaço (G. Estaço, 1625, p.8): “quero suspeitar que [Mumadona] converteu em Mosteiro algumas casas nobres que tinha naquela sua Quinta de Vimaranes, pois tão brevemente o fez”. O mesmo poderá ter acontecido, com a Torre do Castelo, ter começado por ser uma transformação de restos antigos.
3 Desenvolveram-se (certamente, já existiriam raízes populacionais...) dois povoados, a ‘Vila Alta’, ‘Vila do Castelo’ (em redor do Castelo) e a ‘Vila Baixa’, ‘Vila do Mosteiro’ (em redor de Santa Maria, da Colegiada da Senhora da Oliveira), que, embora ligados por uma rua essencial, a Rua de Santa Maria, até rivalizaram entre si (M. C. F. Ferreira, 1986, p.85, p.100), e só foram unificados no Reinado de D. João I.

Nova’)4, mais extensos e pesados.
D. João I (1357-1433) mandou elevar esses Muros e intercalou, neles, Torres ameadas5 .
–
Durante séculos, as Muralhas de Guimarães, com as suas Torres, e as suas Portas6, foram
4 G. Estaço, 1625, p.152. A. J. F. Caldas, 1996, p.32, p.428. J. G. O. Guimarães, 1898, pp.5-6. L. Pina, 1933, p.14, p.24. M. A. Oliveira, 1986, pp.7-8. A Cerca Velha (as primeiras Muralhas de Guimarães) rodeava “o cume da Colina do Castelo”, a Vila Alta, e, volteando a sul, “contornaria o talude que borda a colina, passaria pelo local onde depois se abriu a Porta Garrida, desceria a Rua de Infesta, até ao cruzamento com o Sabugal, para subir, depois, para... a Torre da Freiria, encerrando o circuito, algures, na Muralha meridional do Castelo.”. F. J. Teixeira, 2001, p.35. A Cerca Nova (F. J. Teixeira, 2001, p.42), “saindo do lado-sul do Castelo... descia até à Torre da Freiria”, num “lanço de Muralhas ameadas, de robusta construção, em linha reta, em direção a sul, até ao Postigo do Senhora do Guia”. Daqui, “partia um novo troço de Muralhas... até à Porta da Torre Velha”, e “continuava... até à Porta de São Domingos, formando o lado oriental do Toural”, onde foi aberta a Porta Nova (Postigo de São Paio). Depois da Porta de São Domingos, “a Muralha contornava a atual Rua de Santo António, subindo até à Porta de Santa Luzia, para continuar até à Porta da Garrida, onde a Cerca Velha encontrava a Cerca Nova”. O circuito fechava “com um troço, até à Porta de Santa Bárbara, quase encostada à Torre Norte do Castelo”. Cerca Velha, com perímetro de cerca de 500 m, e Cerca Nova, com perímetro de cerca de 1.400 metros. M. Bastos, 2013b, p.9. A. A. Neves, Blogue.
5 T. P. Azevedo, 1845, p.186, p.316. J. G. O. Guimarães, 1898, p.12. A. Sampaio, 1911, p.1. J. M. Machado, 1985, p.43. M. C. F. Ferreira, 1986, p.101.
6 O acesso à Vila (de forma oval) era feito por 8 Portas (F. X. S. Crasbeeck, 1992, p.83): Porta de Santa Bárbara (“a mais vizinha do Castelo”). Porta de Santo António (Porta da Guarrida, a primeira Porta “na situação da Nova Muralha, começada pelo Senhor Rei D. Afonso III”). Porta de Santa Luzia, ou Porta da Senhora da Graça (a “estrada pública para a cidade de Braga”. Porta de São Domingos (Porta da Vila). Postigo de São Paio (ou Porta Nova, alargada em 1725). Porta da Torre Velha (nas ‘Escadinhas’, diante da antiga Rua de Alcobaça; J. M. Machado, 1985, p.45). Porta do Campo da Feira (ou Porta do Postigo, ou Postigo da Senhora da Guia). Porta de Santa Cruz (ou Porta da Freiria). Estas Portas eram vigiadas e defendidas por 8 Torres (6 Torres e 2 Torrilhões): Torre da Garrida (em frente do antigo Convento dos Capuchos, depois Hospital da Misericórdia, hoje prestação de serviços auxiliares de saúde). Torrilhão da Freiria, depois Santa Cruz (defendia a Porta da Freiria, ou de Santa Cruz, diante da Igreja de Santa Cruz; M. Cardoso, 1957, p.208). Torre dos Cães (a norte da Capela da Senhora da Guia, onde se encontra a “porta falsa”, hoje acesso ao Adarve das Muralhas; a porta falsa foi “obra levada a efeito, nos anos vinte... [do séc. XX], por uns pseudo-arqueólogos”; J. M. Machado, 1985, p.44). Torre da Senhora da Guia (J. L. Faria, 1778, l790; M. Cardoso, 1957, p.209; foi das primeiras a começarem a ser demolidas, por 1790; por Provisão Régia, o Cabido da Colegiada pôde servir-se da pedra, para as suas obras, “fazendo na Muralha uma Porta, por onde passem carros”). Torre Velha (era fechada, sem Porta; tinha, junto às ameias, um nicho com a imagem de São Francisco; em 1608, albergava palheiros; começou a ser desfeita, “uns metros”, em 1897; J. L. Faria, 1897). Torre da Alfândega (conhecida por Torre das Biscaias, junto ao Toural; “Torre fechada que, como a Torre dos Cães, não servia de proteção a qualquer Porta aberta na Muralha”; F. J. Teixeira, 2001, pp.173-174). Torre da Senhora da Piedade (de São Domingos, Porta da Vila; foi demolida antes da Torre de São Bento; J. L. Faria, 1795; M. Cardoso, 1957, p.209; por Aviso Régio, a sua pedra foi concedida ao Dom Prior da Colegiada; é tratada a sua demolição, em 1793, por “já estar fendida, numa esquina... pelo terramoto”; J. L. Faria, 1793; E. Almeida, 1957, pp.73-74). Torre de São Bento (ou Torre da Senhora da Graça, diante do acesso à Rua de Santa Luzia, Francisco Agra; J. L. Faria, 1795; M. Cardoso, 1957, p.209; por Aviso Régio, a sua pedra foi concedida ao Dom Prior da Colegiada, para as obras de reedificação da sua Igreja; foi a última Torre a ser demolida, por ordem da Câmara, “não só por estorvar o trânsito público, como também por servir de lugar que ocasionava roubos e espancamentos, e torpezas contra a moral”; M. Cardoso, 1957, p.210; J. M. Machado, 1985, p.46; ao mesmo tempo que com a Torre de São Bento e a Porta de Santa Luzia, ou Senhora da Graça, desfez-se, em 1943, “um pano de Muralha com mais de sessenta metros, e outros”, numa “extensão total de mais de 150 metros, ao longo da atual Avenida General Humberto Delgado”; J. M. Machado, 1985, p.46). Estas Torres aparecem representadas na Planta de Guimarães, de autor desconhecido, de c. 1569 (B. Machado, 2009), integrada no ‘atlas factício’, designado Mappas do Reino de Portugal e suas conquistas, collegidos por Diogo Barbosa Machado, compilado pelo mesmo Diogo Barbosa Machado (1682-1772). M. Cardoso, 1957, pp.209-210. M. Bastos, 2013b, pp.3-4). A. A. Neves, Blogue. Quando às distâncias entre as Torres, não é possível

imprescindíveis para a defesa da Vila. Mas com o andar dos tempos e o refinar das famigeradas ‘artes da guerra’, deixaram de o ser, com fortes repercussões no modo como foram consideradas.
Em 1531, por deliberação camarária, as Portas da Vila passaram a ficar abertas e sem guarda7, o que teve como consequência um desinteresse, gradual e generalizado, pelas Muralhas.
Em 1640, com o Movimento da Restauração, as Muralhas voltaram a ser valorizadas8, tendo sido feitas, nelas, intervenções e melhorias. Mas passado esse período de aperto, foram deitadas, novamente, ao abandono.
Em 1667, já se “roubavam” pedras das Muralhas, levando a que (30 de julho) o Juiz de Fora mandasse “abrir devassa para averiguar quem furtava pedra dos Muros, junto à Porta de Santa Cruz [Torre da Freiria], que se ia arruinando, e dos Paços, pelo prejuízo à fortificação dos Muros e à obra real dos mesmos Paços”.
Tudo o que era ‘antigo’, na velha Vila, passou a ser desprezado, e no último quartel do século XVII, “todas as ruas da antiquíssima Vila estavam desfeitas e arruinadas”, acabando quase tudo “repartido em quintais particulares”, que guardavam “vestígios seguros das primitivas edificações.”9 .

O processo continuou, pelo século seguinte, com a cedência descontrolada de pedras das Muralhas e a constituição de aforamentos.
M. C. F. Ferreira, 1986, p.124.
estabelecê-las, hoje, exatamente. O edificado antigo já não existe, o que resta dele foi muito alterado, e a equivalência da unidade de medida, ‘passo’, de então, para ‘metro’, de hoje, não aparece linear, nem consensual. O estabelecimento de alguma proporção entre os dados disponíveis e a realidade presumida, leva a duvidar da exatidão dos dados fornecidos pelo Padre Torcato. Nem a soma total das partes bate certo. Diz o cronista (T. P. Azevedo, 1845, pp.316-318), e o Padre Caldas replica-o, embora sem citar (A. J. F. Caldas, 1996, pp.427-430): Do Torreão da Freiria à Torre dos Cães, 490 passos. Da Torre dos Cães à Torre da Senhora da Guia, 262 passos. Da Torre da Senhora da Guia à Torre Velha, 360 passos. Da Torre Velha à Torre da Alfândega, 340 passos. Da Torre da Alfandega à Torre de São Domingos, 200 passos. Da Torre de São Domingos à Torre da Senhora da Graça, 345 passos. Da Torre da Senhora da Graça ao Torreão da Garrida, 612 passos. Pode ser, enfim, que os estudiosos preferenciais desta matéria se disponham a cotejar a informação que existe, e a estabelecer essas distâncias, com mais rigor.
7 Para esta série de eventos, relacionados com a história das Muralhas de Guimarães, fundamento-me, especialmente, passim, em: T. P. Azevedo, 1845; A. J. F. Caldas, 1996; J. L. Faria, Efemérides, Manuscrito da SMS. A. V. Braga, 1959; A. V. Braga, 1992; M. J. Meireles, 2000; B. Ferrão & J. F. Afonso, 2002; jornais da época.
8 J. L. Faria, 1640. F. J. Teixeira, 2001, p.147.
9 A. J. F. Caldas, 1996, p.28.
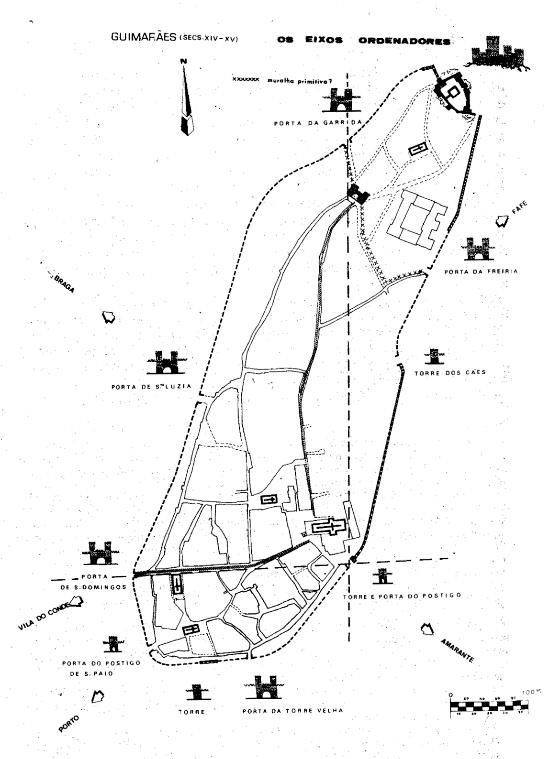
Em 31 de outubro de 1788, foi consentido que a Irmandade de Nossa Senhora da Consolação e Santos Passos se apropriasse de pedra das Muralhas, no sítio dos Palheiros e na Torre da Freiria10 .
Em 1 de agosto do ano seguinte, um munícipe obteve autorização para recolher pedra ‘caída’ do Muro, nos Palheiros, que “se encontrava a embaraçar a passagem”.
Em 1793, a Rainha D. Maria I (1734-1816) reconheceu a “inutilidade das Muralhas de Guimarães”, face “ao estorvo que as mesmas constituíam, para o aumento da povoação”, intensificando-se a sua demolição e proporcionando-se mais aforamentos.
Em 1800, o Juiz de Fora, Manuel Marinho Falcão de Castro, fez pedido, ao Rei, para que, com “o produto da venda da pedra dos Muros da Vila”, se procedesse às “necessárias obras de madeiramento e telhado do Paço dos Duques de Bragança”. O Monarca, por Aviso de 06.12.1800, “conjuntamente com a Câmara”, autorizou que assim fosse, e que se demolissem os Muros e as Torres da Vila, “para os consertos das estradas e dos aquedutos”11 .
A partir de 1801, verificou-se um “descontrolo geral”, nas demolições dos Muros e das Torres da Vila”12 . Começou um “ataque cerrado às Muralhas”13, em que cada vez mais particulares faziam ‘súplicas’, à Câmara e ao Paço, para obterem pedra das Muralhas e conseguirem aforamentos.
Em 1803, continuava a ser desfeita a Torre da Freiria14, sendo grande parte da sua pedra vendida, em 1805, e decidido o aforamento do seu espaço15, nesse mesmo ano.
Em 1831, foram suspensas as arrematações da pedra das Muralhas, “tal a sofreguidão da Câmara, neste negócio”16 .
Em 1840 (6 de fevereiro), procurando pôr alguma ordem no caos, a Câmara intimou “os que estavam de posse de parte dos Muros, a fim de lhe apresentarem os seus títulos de posse, resolvendo… aforar ou demolir o resto, pondo a pedra em arrematação.”17 .
Por essa altura, e com a mesma intenção, a Câmara exigiu ao Cabido da Colegiada justificação de que
10
11
12
J. L. Faria, 1788. E. Almeida, 1957, p.75.
A. V. Braga, 1959, p.221.
J. L. Faria, 1800. M. J. Meireles, 2000, p.33, p.77.
13 M. J. Meireles, 2000, p.77.
14

15
16
F. J. Teixeira, 2001, p.216.
A. J. F. Caldas, 1996, p.429. J. L. Faria, 1803. A. J. F. Caldas, 1996, p.429. F. J. Teixeira, 2001, pp.164-165.
F. J. Teixeira, 2001, p.185-186.
17 A. J. F. Caldas, 1996, p.430.
era, como ele se dizia, “senhor das Torres da Vila”, podendo desfazê-las, como lhe aprouvesse.
Ainda nesse ano, a propriedade e a posse das Muralhas era posta em causa, quando, em 5 de setembro, a Câmara quis saber, junto do Paço, se o que existia, dos Muros da Vila, devia ser conservado “unicamente para encosto dos moradores”, ou “se a municipalidade podia deles dispor, em benefício público”.
As respostas que se conhecem são, quase sempre, evasivas, mostrando-se, por vezes, interesse na “herança do passado”, mas, depois, tudo se fazendo para que essa herança se desfizesse, pelos estorvos que causava e os rendimentos que o seu desbaratamento produzia.
Mesmo assim, a nível legislativo e da governação, as preocupações com o “antigo com significado para a Vila”, isto é, com o Património Material tornado “significativo” pelo Imaterial com que tinha correspondência, sobretudo por força da ideologia, foram, muitas vezes, sinceras.
Foi nesse contexto que, em 1858, o Arquiteto Joaquim Possidónio Narciso da Silva (1806-1896) procedeu à “representação e cadastro” dos edifícios que “poderiam ser classificados como Monumentos Nacionais”, organizando uma lista que se disse ter ficado “em paradeiro desconhecido”18 .
Em 1880, tendo sido pedida à Real Associação dos Arquitetos Civis e Arqueólogos Portugueses a indicação de “edifícios que pudessem ser classificados, pelo Governo, como Monumentos Nacionais”, a Associação19 respondeu (30.12.1880) com uma lista20 que, embora nunca tenha sido “aprovada oficialmente”, serviu de base “para as primeiras classificações do Património Imóvel, em Portugal”21, mantendo-se como elemento de consulta22, até aos princípios do século XX.
Dessa lista, e integrando a primeira classe, fazia parte o Castelo de Guimarães, considerado, “de entre todos, o mais apreciável”: pela sua antiguidade (anterior à Monarquia), por ter “servido de berço e de corte ao nosso Primeiro Rei, mostrando os restos dos seus Paços”, pelo seu “excelente estado de conservação”, por precisar de ser “protegido contra a barbaridade dos homens” e de ser ajudado a resistir à “ação assoladora do tempo, quando esta o ameaçar de ruiía”23 .

18
19
20
21
22
23
J. Custódio 1993, p.48.
J. Custódio 1993, p.49.
Lista publicada no Boletim da Associação (RAACAP, 1881).
L. M. M. V. Correia, 2011, p.212, p.222.
J. Custódio 1993, p.50.
RAACAP, 1881, p.84, p.101. RAACAP – Real Associação dos Architectos Civis e Archeologos Portuguezes (1881). Relatório e mapas acerca dos edifícios que devem ser classificados Monumentos Nacionais, apresentados ao Governo pela Real Associação dos Arquitetos Civis e Arqueólogos Portugueses, em conformidade da Portaria do Ministério das Obras públicas de 24 de outubro de 1880. DG, n.º 62, de 19.03.1881, Ministério das Obras Públicas Comercio e Indústria, Direção Geral das Obras Públicas e Minas, Repartição de Obras Públicas, que transcreve o “extrato da ata” da sessão da Assembleia Geral da RAACAP, de 30.12. 1880.
Aparecem, ainda, integradas, nessa lista24, a Igreja de Nossa Senhora da Oliveira, a Igreja de São Miguel do Castelo, o Padrão ‘em frente da Igreja’25, os restos dos Paços dos Duques.
Em 29.12.1881, Joaquim Possidónio foi incumbido, uma vez mais, de “percorrer o país, a fim de proceder a um reconhecimento oficial e realizar o levantamento dos principais edifícios públicos e Monumentos do Reino”, tendo elaborado um relatório, sobre isso (1884)26 .
Em 1890, foi nomeada uma Comissão para “a estruturação do arrolamento de riquezas e o estabelecimento de um sistema pragmático de classificação dos Monumentos Nacionais”27, presidida pelo 1º Conde de Almedina, Delfim Deodato Guedes (1842-1895), e, mais tarde (1893), por Luciano Cordeiro (1844-1900).
Em 1894, foi publicada a Portaria de 27 de fevereiro, do Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria28 , aprovando um “Regulamento para a Comissão dos Monumentos Nacionais”.
A essa Comissão incumbia, entre outros aspetos, “estudar, classificar e inventariar os Monumentos Nacionais” e “promover a propaganda e o culto público pela conservação e pelo estudo desses Monumentos”, e “velar por eles” (art.º 2. °), publicando uns “Anais da Comissão” reunindo todos os documentos produzidos (art.º 6. °).
Em 1904, foi apresentado, por Augusto Maria Fuschini (1843-1911), da Comissão dos Melhoramentos Públicos (20.01.1904), um Plano Geral de Classificação dos Monumentos, que serviu de referência29, na composição do relevante e significativo Decreto de 16.06.1910.
24
25
RAACAP, 1881, p.102.
O “Padrão em frente da Igreja”, designado por “Padrão do Salado”, é o “Padrão da Vitória” (T. P. Azevedo, 1845, p.301, p.311. A. J. F. Caldas, 1881, p.64): “uma Cruz de pedra, com a Imagem de Cristo Crucificado, assentada sobre uma coluna, e coberta de abóbada, que estriba em quatro esteios” (G. Estaço, 1625, p.156). Num deles, houve um altar que celebrava D. João I e a Vitória de Aljubarrota. A Cruz é peça filigranada, sensível, vinda da Normandia, há cerca de 7 séculos. Esse Padrão é Monumento Nacional, classificado por Decreto n.º 37:366, de 05.04.1949, do Ministério da Educação Nacional, Direcção-Geral do Ensino Superior e das Belas-Artes, DG n.º 70, de 05.04.1949, p.224. É urgente ‘repor’ um elemento físico de proteção, nesse Monumento. Em 2003 (JN, 12.07.2003), o então Presidente da Câmara, António Magalhães da Silva, por ocasião de uma festa, realizada na Praça da Oliveira, confessou “ter ficado algo atónito ao ver alguns dos presentes dependurados no Padrão do Salado, que se ergue em frente à Igreja da Oliveira”. Apesar do alerta, nada se alterou. Temos de ir preparando os olhos, para as lágrimas, e os teclados, para os comentários, para quando, qualquer dia, algo que nos é querido, dali, for vandalizado, ou desaparecer mesmo. É preciso acabar com o camartelo turístico silencioso com que, hoje, aquele Monumento solene, com a sua emblemática Cruz trecentista, é agredido, na sua integridade e dignidade (Recomendações da Unesco, Unesco, 2003, e outros, e Leis do Património, Guimarães Património da Humanidade).
26
L. M. M. V. Correia, 2011, pp.213-214. 27
J. Custódio 1993, p.50. 28 DG, n.º 46, de 28.02.1894. 29
J. Custódio 1993, p.53.

Antes de 1910, procedeu-se à classificação de alguns Monumentos Nacionais – em 1906, 190730 e 1908. Neste último ano, foi aprovada a classificação do Castelo de Guimarães, que foi incluído na “Lista de Monumentos Nacionais e Padrões Históricos e Comemorativos de Varões Ilustres e que são elementos apreciáveis para o Estudo da História das Artes em Portugal”31 .
Não obstante estas preocupações do poder, com o Património, as Muralhas de Guimarães continuavam a ser mutiladas e alienadas, de forma crescente, correspondendo a interesses, alguns ditos públicos, e outros, seguramente privados.

Ou seja, desligadas da sua principal finalidade, a defesa, elas tornaram-se desprezadas, usurpadas, disputadas, doadas, vendidas, requisitadas, leiloadas, permutadas… absolutamente esvaziadas de valor e de sentido, no todo que tinham sido, carregado de beleza e de memórias, deixando, enquanto ‘Muralhas’... de existir.
Assim desvalorizadas, as Muralhas, com as suas Portas e Torres, passaram a ser entendidas32como um “estorvo ao desenvolvimento”, e como “reserva de matérias primas”, aplicando-se a sua pedra (talhada, segura, disponível, prontinha a usar!), por processos quase nunca claros, de interesse (presumivelmente) público e (garantidamente) privado, em edifícios, proteções, muros, arruamentos, tanques, estradas…
Na fúria desse indecoroso ataque, ao mesmo tempo que as Muralhas eram apagadas, iam ficando dúvidas por esclarecer – no campo histórico, político, jurídico, administrativo, social, funcional... – algumas das
30 Decreto de 10.01.1907, do Ministério das Obras Públicas, Comercio e Indústria, Direção Geral das Obras Públicas e Minas, Repartição das Obras Públicas, publicado no DG, 17.01.1907, “designando os edifícios públicos que devem ser considerados Monumentos Nacionais.” 31 L. M. M. V. Correia, 2011, p.223. O DG de 19.03.1881, p.696, na secção do Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria, Direção Geral das Obras Públicas e Minas, Repartição de Obras Públicas, transcreve o “Relatório e mapas acerca dos edifícios que devem ser classificados Monumentos Nacionais, apresentados ao Governo pela RAACAP, em conformidade da Portaria do Ministério das Obras Públicas, de 24.10.1880”, sendo isso “Extrato da ata da sessão da assembleia geral da RAACAP, em 30.12.1880”, pp.694-696. Publicado em DG, o documento é um reconhecimento oficial, a título de registo e informação, como referência para futuras classificações de Monumentos. O que é dito, é muito diferente, por exemplo, do “hei por bem determinar...”, do Decreto de 27.08.1908, DG, n.º 199, de 05.09.1908, do Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria, e do “hei por bem determinar que sejam considerados Monumentos Nacionais os que constam da nova classificação feita pelo respetivo conselho...”, do Decreto de 16.06.1910, DG, n.º 136, de 23.06.1910, do Ministério das Obras Públicas. Portanto, não se trata de um reconhecimento do Castelo de Guimarães, Monumento Nacional, como alguns sustentam, que aconteceu, verdadeiramente, em 1908.
32
Já em 1838-1839, o lúcido e autêntico (mas muito cáustico, quando era necessário e se ainda fosse vivo, teria, hoje, muito que fazer...) Alexandre Herculano previa que “alguns lembram-se já de demolir as Muralhas da Vila [de Guimarães], reconstruídas por D. Dinis”, e “tentam arrasar as paredes que restam dos Paços do Conde D. Henrique... onde D. Afonso I nasceu”. Trata-se dos “vândalos modernos”, os “modernos Hunos”. L. M. Silva, 2015, pp.147-148. No dizer de Herculano, os ‘habitantes de Guimarães’ mostravam-se insensíveis perante a destruição dos seus Monumentos (A. Herculano, 1982, pp.208-209). No dizer de Alberto Vieira Braga, “em face... dos sagrados princípios de amor pátrio, é inegável que tudo quanto se fez e desleixadamente se desprezou e deixou derrubar, foi um crime desrespeitoso e monstruoso ataque à monumentalidade histórica e artística.” (A. V. Braga, 1959, p.220). Poder-se-á dizer que foi, além de tudo, um crime contra a ‘identidade histórico-cultural’ de Guimarães.
quais não se encontram totalmente resolvidas, ainda hoje.
3 – As Muralhas no tempo da Primeira República Quanto às Muralhas, a Câmara vimaranense republicana continuou as mesmas práticas da Monarquia33 . Logo em 1910, em 21 de dezembro (meses depois da publicação do Decreto de 16.06.1910), foi deferido o requerimento de um munícipe, da Rua 31 de Janeiro (Rua de Santo António), que pediu licença para “depositar materiais no Largo da Misericórdia… provenientes da demolição, a que iria proceder, do antigo Muro da Cidade”. Foi dada autorização, pagando o requerente uma taxa “pela ocupação do terreno, que lhe foi demarcado pelo vogal do pelouro das obras”34 .
Em 1911, quando se trabalhava, lá longe, nos gabinetes da capital, em legislação sobre essas matérias35 , eram vendidos, localmente, pedaços das Muralhas de Guimarães, “a um particular, para o alargamento do quintal da sua casa”.
O que restava das Muralhas perdia, cada vez mais, o “sentido de Muralhas”, e era entendido (cada vez mais...) como “obstáculo” a remover. E embora “já pouco existisse delas”, “continuaram a ser demolidas, sempre que era necessário”36 .
Em 1916, o Senado vimaranense retirava pedra dos alicerces das Muralhas, na Rua do Sabugal, no sítio de um quintal, abandonando, embora, outra pedra, que um morador pretendia obter, e pediu para lhe ser entregue.
Nos anos de 1920, com as obras da então “muito desejada”, nova Praça do Município (hoje, Praça da Mumadona), foi desfeita mais uma parcela das Muralhas, nesse local.
Em 1924, apesar de a Lei n.º 1700 (DG n.º 281, de 18.12.1924) ter insistido no conceito de “Imóvel de Interesse Público, sob o ponto de vista artístico, histórico ou turístico” (art.º 54º), novas construções da Câmara de Guimarães interferiram com as Muralhas. E no ano seguinte, alerta-se para que, na estrada de Fafe, as Muralhas continuavam a ser destruídas... em nome do progresso – o que quer que se entendesse por isso.
33
34
Fundamento-me, passim, nos mesmos autores da nota 50
Isto enquanto se acautelava a fuga de “obras de arte e objetos arqueológicos”, por decisão aprovada em 10.11.1910, publicada no DG, n.º 41, de 22.11.1910, p.515.
35 Entre outras leis, trabalhava-se no Decreto de 20.04.1911 (DG, n.º 92, de 21.4.1911 – Lei da Separação do Estado das Igrejas), que se preocupava (art.º 75º) com os “edifícios e objetos que representem valor artístico ou histórico”, para serem classificados “Monumentos Nacionais”, e no Decreto de 26.05.1911 (DG, n.º 124, de 29.5.1911), empenhado em classificar Monumentos e “velar pela sua conservação”.
36 M. J. Meireles, 2000, p.37.

O Estado Novo37 tentou pôr ordem nestes tresloucados atrevimentos, mas não o conseguiu. As Muralhas de Guimarães continuaram a ser destruídas.
Em 1931, reconhecia-se que alguns dos principais Monumentos de Guimarães, e com eles as Muralhas (que, num “erro de engenharia indígena”, já partes das Muralhas, estavam a ser reduzidas38 “às proporções de... um muro de quinta” ...), se encontravam ao abandono.
Os Monumentos vimaranenses mais relevantes foram sendo recuperados, mas as Muralhas, não.
Nos anos de 1940, mesmo dizendo-se que se valorizava o “Núcleo Antigo” de Guimarães39, continuaram as demolições.
O caso mais flagrante foi o que aconteceu na zona dos Palheiros (antiga Avenida Duarte Pacheco), onde as Muralhas resistentes eram, aparentemente, defendidas, mas ‘apareciam’ desamparadas, sem consistência, ‘obrigando’, não à responsabilização e à reposição, mas à sua derruição.
Sobre as Muralhas dos Palheiros, disse-se que desabou parte delas, “que ameaçava ruínas”. E explicouse que “as últimas chuvas, penetrando nas fendas abertas, completaram a obra que... se vinha, lentamente, desenhando”40 .
Parcelas, igualmente, importantes da “herança do passado” vimaranense, como o Parque do Castelo e a Alameda41, foram apagadas.
As destruições eram, sempre, feitas, “em nome do progresso”42
Algumas vezes, falou-se em ‘reconstrução’, mas era a própria Câmara a conceder licenças para demolir o que ainda havia das Muralhas, em gestos pouco claros, como quando autorizou (1940) um particular a fazêlo, com o objetivo de “ligar... dois prédios”43, como era sua conveniência.
Num irónico “Bilhete Postal”, publicado num jornal da época, faz-se notar que ia longe “o tempo em que, para se derrubar uma árvore ou mudar um marco que estorvasse a passagem pública, ou contrariasse o embelezamento do local, se tinha de recorrer às trevas da noite, ou à audácia de mercenários, a quem se
37
Fundamento-me, passim, nos mesmos autores da nota 50 38 CG, 22.02.1929.

39
“Núcleo Antigo”, “Muralhas Torreadas” da Vila, “Cerca de Muros Pesados”, “Zona Medieval”, “Cerca da Cidade”, são designações antigas, para aquilo a que hoje chamamos ‘Centro Histórico’, e que não lhe ficam nada atrás, em expressividade... 40 CG, 29.03.1940
41 M. J. Meireles, 2000, p.42.
42 M. J. Meireles, 2000, p.42. 43 CG, 12.07.1940.
pagasse bem”. No tempo de então, verificava-se “mais autoridade e personalidade”, “mandava-se e cumpriase”44, e assim o Património era respeitado, para o bem ou para mal, ao critério de quem mandava.
Em 1947, uns proprietários anunciaram que estavam dispostos a negociar “a parte da Muralha que lhes pertence” (sem dizerem como...), no ângulo da Rua das Trinas”, sem qualquer oposição da Câmara45 .
Com o “desmonte das Muralhas”, que continuava (sobretudo na Avenida Duarte Pacheco), a Cidade estava “transformada numa montureira”, provocando mau aspeto e insalubridade.
No ano seguinte, dando um sinal positivo de conservação, foram efetuadas ‘limpezas’ nas Muralhas (o que havia delas...), pela DGEMN, a pedido do Museu Alberto Sampaio46 .
Em 1952, foram concretizadas mais expropriações, na ‘Colina Sagrada’ (Castelo, Igreja de São Miguel) e Paços dos Duques, com vista a ser criada uma “Zona de Proteção” aos Monumentos lá existentes.
Planta de Guimarães, 1958. Diário do Governo, de 30.08.1958.
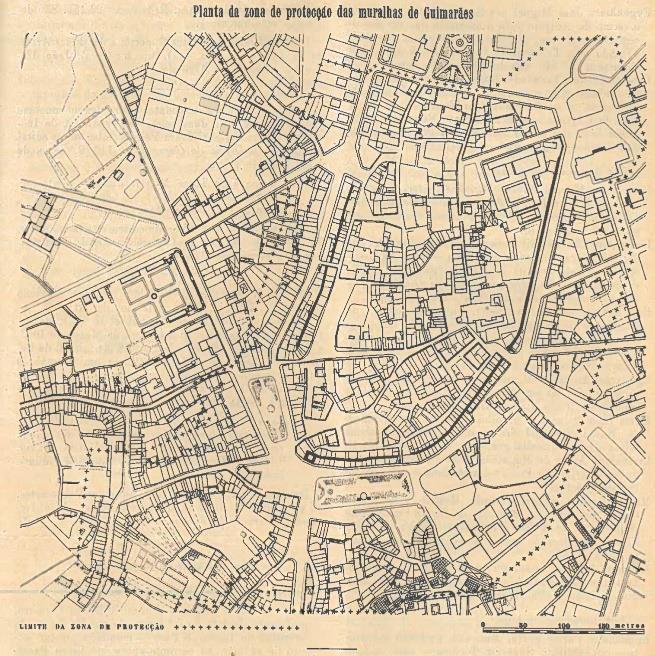
Em 1956, restos das Muralhas, ainda de pé, porque ‘inestéticos’, foram sendo removidos.
Em 1959, o pedaço da Muralha, sobre o tanque da Rua de Santo António, que se mostrava “denegrido e sujo, pela ação do tempo”, foi intervencionado e ‘corrigido’, mantendo função de suporte, mas perdendo a aparência de Muralha.
Em 1966, as Muralhas que seguiam no interior dos prédios, nessa mesma rua, e lhes serviam de apoio, disse-se que foram danificadas (“alinhadas”, “corrigidas”), sem que, oficialmente, tal fosse impedido, ou se desse qualquer relevância ao facto.
Depois disso, tudo foi serenando, até porque... já não havia muito mais a abater.
O pouco que ficara, impossível de repor, na grandiosidade primitiva, passou a ser olhado com a parcimónia, a nostalgia do que é belo e bom, insubstituível e raro.
44 CG, 05.04.1940.

45 CG, 25.04.1947.
46 NG, 15.07.1945.
Entrado o século XXI, o tema das Muralhas de Guimarães não perdeu atualidade.
Entre outros aspetos47, constatou-se que elas (o que restava delas), apesar do que se havia legislado, dito, escrito, não estavam, ‘formalmente’, ‘oficialmente’, reconhecidas como Monumento Nacional, e que o Decreto de 16.06.1910 (ainda da Monarquia)48, que fez registo de um elenco de Monumentos elevados a Nacionais, reconhecia, como tal49, o Castelo, mas tinha deixado de fora as Muralhas de Guimarães.
Para a convicção de que as Muralhas de Guimarães ‘seriam’ Monumento Nacional, embora o título não lhes estivesse, na verdade, atribuído, contribuíram alguns equívocos importantes.
a) A Portaria de 04.07.1958, que fixou o perímetro de proteção das Muralhas de Guimarães50, assevera que as Muralhas de Guimarães estão “classificadas como Monumento Nacional, por Decreto de 16 de junho de 1910”.
b) A Direção Geral do Património Cultural (DGPC)/Sistema de Informação e Documentação sobre Património Arquitetónico, Urbanístico e Paisagístico Português e de Origem ou Matriz Portuguesas (SIPA), declara o mesmo51 .

47 A obra de um ‘miradouro’, nas Muralhas de Guimarães, aproveitamento turístico do Adarve (ao correr da Avenida Alberto Sampaio), realizada pela Câmara Municipal de Guimarães, teve origem no Orçamento Participativo de 2013, com base na Proposta de Miguel Bastos (M. Bastos, 2013a. JN, 30.06.2019). A ‘ideia’ era antiga, tendo surgido em 1956 (L. M. Silva, 2015, pp.147-148), embora não tenha sido concretizada.
48
Decreto de 16.06.1910, do Ministério das Obras Públicas, Comércio a Indústria, Direção Geral de Obras Públicas e Minas, Repartição de Obras Públicas, publicado no DG n.º 136, de 23.06.1910, que determina, elencando-os, “que sejam considerados Monumentos Nacionais os que constam da nova classificação feita pelo respetivo conselho”.
49 O Castelo de Guimarães já tinha sido reconhecido como Monumento Nacional, por Decreto de 27.08.1908, do Ministério das Obras Públicas, Comércio a Indústria, Direção Geral de Obras Públicas e Minas, Repartição de Obras Públicas, publicado no DG n.º 199, de 05.09.1908, que determinava “que o Castelo de Guimarães seja considerado Monumento Nacional”, embora “ficando o terrapleno, paiol e mais dependências pertencendo ao Ministério da Guerra”. O Decreto de 27.08.1908 tomava por base o Decreto de 30.12.1901, do Ministério das Obras Públicas, Comércio a Indústria, Direção Geral das Obras Públicas e Minas, Repartição de Estradas, Obras Hidráulicas e Edifícios Públicos, publicado no DG n.º 153, de 12.07.1902, “aprovando as bases para a classificação dos Monumentos Nacionais e Bens Mobiliários de Valor”. Acresceram, ainda, para esse reconhecimento, contributos advindos da Portaria de 27.02.1894, DG, n.º 46, de 28.02.1894, p.509 (Regulamento para a Comissão dos Monumentos Nacionais), e outros, como os de Joaquim Possidónio da Silva (RAACAP), e Augusto Fuschini, “Plano Geral de Classificação dos Monumentos”, 1904 (L. M. M. V. Correia, 2011, pp.220-221). Foi instituída Zona de Proteção, aos Castelo, Igreja de São Miguel e Paço dos Duques de Bragança, por Portaria de 30.04.1952, modificada por Portaria de 23.07.1955.
50 Portaria de 04.07.1958, do Ministério da Educação Nacional, Direção Geral do Ensino Superior e das Belas Artes, publicada no DG n.º 203, de 30.08.1958, pp.7004-7005, que fixa “o perímetro de proteção das Muralhas de Guimarães, classificadas como Monumento Nacional, por Decreto de 16.06.1910”. Esta afirmação errada vem de longe, como se vê.
51 Url: “http://www.monumentos.gov.pt”. O SIPA insiste em que as Muralhas de Guimarães foram reconhecidas Monumento Nacional, pelo Decreto 16.06.1910.
c) A Câmara Municipal de Guimarães manifesta, no seu ‘Sítio de Internet’, o mesmo entender52. Num “Comunicado sobre a Torre da Alfândega, onde está a Inscrição ‘Aqui Nasceu Portugal’”, que emitiu53, afirma: “a Muralha, Monumento Nacional desde 1910...”. E no ato de aprovação da Proposta sobre as Muralhas, a que me vou reportar, a seguir (em reunião ordinária da Câmara, de 14.04.2016), o Presidente da Câmara e os Vereadores Com Competências Delegadas declararam que reconheciam as Muralhas de Guimarães como já “constarem da lista de Monumentos Nacionais da... Direção Geral do Património Cultural).
d) Vários autores o vêm, igualmente, a afirmar54, não tendo verificado o que o citado Decreto de 1910, verdadeiramente, exprimia.
Estes, entre outros, foram equívocos que interferiram no modo de entender as Muralhas de Guimarães55, sempre como ‘Monumento Nacional’.
A referência legal mais antiga, que encontro, a garanti-lo, é a Portaria de 04.07.1958, que define o perímetro de proteção das Muralhas de Guimarães, e afirma, textualmente, “as Muralhas de Guimarães, classificadas como Monumento Nacional por Decreto de 16 de junho de 1910”. Mas não foi apresentada, exata, no seu articulado.
Pode não parecer – mas isto é o Património Imaterial/História Local a revelar-se o ‘parente pobre’ do Património, não se lhe dando a atenção que merece.
Como a afirmação constava de um ‘dogmático’ Diário do Governo, ninguém foi conferir a sua validade,
52 Url: “https://www.cm-guimaraes.pt”.

53 Comunicado, de 17.03.2016. Url: “https://www.cm-guimaraes.pt”. “Comunicado sobre a Torre da Alfândega onde está a inscrição ‘Aqui Nasceu Portugal’. Os edifícios por detrás da Muralha, Monumento Nacional desde 1910, que foram transacionados entre os privados, terão de constituir servidão pública de acesso público ao cimo deste Monumento da Torre de Alfândega, no processo de licenciamento obrigatório a submeter à aprovação da Câmara e da Direção Regional de Cultura do Norte, para a sua reabilitação e regeneração. Se assim não for, a Câmara de Guimarães iniciará o processo expropriativo desta servidão pública. Também se iniciará o processo de identificação de todo o cadastro e estudo de propriedade de todo o pano da Muralha e dos seus edifícios da Cidade de Guimarães. O Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Domingos Bragança. O Vereador da Cultura e do Centro Histórico, José Bastos.”. Neste Comunicado, são referidos os “edifícios por detrás da Muralha”. Mas, como se sabe, nas Muralhas de Guimarães não existem apenas edifícios ‘por detrás’, mas também ‘à sua frente’, colados ‘intramuros’ e ‘extramuros’, num processo que se tornou usual, no tempo a que se reporta. M. Bastos, 2013b, p.21. Estão em curso trabalhos para o aproveitamento turístico-cultural do espaço que foi da Torre da Alfândega (‘Aqui Nasceu Portugal’). CM, 05.09.2016.
54
M. J. Meireles, 2000, p.361. A autora reporta-se à Portaria de 04.07.1958, ao PDM de Guimarães e ao jornal Comércio de Guimarães, de 05.09.1958, onde se diz que as Muralhas, em 1958... já são “consideradas Monumento Nacional, por DG n.º 136, de 16 de junho de 1910”. O PDM de Guimarães assume esse entendimento, e o jornal citado (p.3) diz que as Muralhas de Guimarães estão, “como se sabe, classificadas como Monumento Nacional”. Mas não estavam.
55
O principal ‘problema’ dos equívocos, em Património Imaterial/História Local, não é um (normal) ‘errar’ e ‘corrigir’, porque, por mais cuidados que haja, errar é ‘mesmo’ humano, só não erra quem não faz. O problema é que os equívocos, nessas áreas, tendem a causar, tantos mais danos, quanto mais ‘relevantes’, a qualquer nível, forem as vozes de onde provêm, afetando, sobretudo, os destinatários menos reflexivos e informados, podendo “fazer lei” ...
advindo do erro lá cometido o agregado de equívocos que se seguiu.
6 – As Muralhas ‘não são’ Monumento Nacional
Quem, recentemente, alertou para a realidade de que, apesar do exarado em Lei, as Muralhas de Guimarães não estavam, de facto, reconhecidas como Monumento Nacional (mas apenas o Castelo...), foi o Vereador Sem Competências Delegadas, da Câmara Municipal de Guimarães, José Torcato Ribeiro56, numa ‘Proposta’, datada de 29.03.2016, apresentada em reunião ordinária da Câmara, de 14.04.2016 (n.º 17 da ordem de trabalhos).
O Vereador propunha que “se preencha a lacuna agora reconhecida e que se diligencie para que as Muralhas de Guimarães/Cerca Urbana de Guimarães sejam classificadas como Monumento Nacional”, por se tratar “de um Monumento singular, com inestimável valor cultural e uma inegável dimensão simbólica, para a Cidade e para Portugal”, e solicitava que a Câmara Municipal de Guimarães, no exercício das suas funções, “inicie procedimento administrativo para a classificação das Muralhas de Guimarães/Cerca Urbana de Guimarães, como Monumento Nacional, nos termos da Lei 107/2001, de 8 de setembro, e do DL 309/2009, de 23 de outubro”
Muralhas, parcialmente destruídas, vistas da antiga estrada de Fafe (por 1922). Fonte: AMAP, 6-66-1-18.

57 .
A competente Proposta de Torcato Ribeiro foi aprovada, por unanimidade, pelos participantes na reunião, mostrando, todos, saberem pôr-se de acordo, e ultrapassar divergências que possam existir, quando estão em causa os interesses de Guimarães.
56
Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Guimarães, de 14.04.2016. Url: “http://www.cm-guimaraes.pt”. Foi deliberado: “Património: classificação das Muralhas de Guimarães/Cerca Urbana de Guimarães como Monumento Nacional – aprovar o início de procedimento administrativo para a classificação das Muralhas de Guimarães/Cerca Urbana de Guimarães, como Monumento Nacional, nos termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro [Lei de Bases do Património Cultural], e do DL n.º 309/2009, de 23 de outubro [estabelece o procedimento de classificação dos bens imóveis de interesse cultural, bem como o regime das zonas de proteção e do plano de pormenor de salvaguarda].”.
57 Url: “http://www.cm-guimaraes.pt.“, atas.

No ato da ‘aprovação’ da Proposta, foram formuladas duas importantes declarações de voto: uma, por parte do Presidente da Câmara e Vereadores Com Competências Delegadas (PVCCD)58, e outra, por parte de três Vereadores Sem Competências Delegadas (VSCD)59 .
Seja-me permitido tecer algumas considerações sobre estas declarações de voto.
a) Os PVCCD disseram que votavam a favor da Proposta, por entenderem que, embora considerassem as Muralhas de Guimarães como já “constarem da lista de Monumentos Nacionais da... Direção Geral do Património Cultural (com o n.º 2293 de inventário), e terem o perímetro de proteção definido, no DG de 30.08.1958”, verificavam que “a alusão ao Decreto de 16.06.1910, como suporte legal de classificação, não encontra correspondência no conteúdo do mesmo”60 .
Segundo os próprios, (mostrando agir, ativamente, como toda a Vereação, no sentido das melhores respostas, para Guimarães), importava “clarificar, do ponto de vista formal, esta classificação”, recorrendo ao contributo do órgão competente, a Direção Geral do Património Cultural, para a “resolução desta desconformidade”.
Mas há dois pontos a esclarecer.
As Muralhas de Guimarães tinham, de facto, o perímetro de proteção definido, na Portaria de 04.07.1958 (DG de 30.08.1958), mas esse normativo legal parte do pressuposto de que as Muralhas já eram reconhecidas Monumento Nacional61, o que não era verdade, como continua a não ser.
Pelo menos em 1958, alguém falhou, porque, ao ser definido esse perímetro de proteção, dever-se-ia ter procedido às necessárias verificações do que se afirmava, o que não aconteceu.
A partir daí, gerou-se o ‘uso’ de confiar na ‘verdade’ (que afinal não o era!...), estabelecida por Portaria, por Lei.
Depois, as Muralhas de Guimarães constam, realmente, da lista de Monumentos Nacionais da Direção Geral do Património Cultural, e é indicado, até, um n.º 2293 “de inventário”. Mas aqui, estamos, igualmente, perante um pressuposto equivocado.
De facto, existe um n.º de inventário, DGPC 2293, associado ao n.º IPA (Inventário do Património
58
59
60
61
PVCCD –

VSCD – André Coelho Lima, António Monteiro de Castro e Ricardo Araújo.
Portaria de 04.07.1958.
Diz a Portaria: “...as Muralhas de Guimarães, classificadas como Monumento Nacional por Decreto de 16 de Junho de 1910”.
Arquitetónico) 1048, n.º IPA antigo, código PT010308340016, aplicado às Muralhas de Guimarães/Cerca Urbana de Guimarães62. Mas a fundamentação apresentada para essa atribuição e reconhecimento é o mesmo Decreto de 16.06.1910 – o ‘tal’ que... não inclui as Muralhas de Guimarães no conjunto dos Monumentos Nacionais.
É, de novo, o Património Imaterial/História Local a revelar-se o ‘parente pobre’ do Património.
Por isso, a fundamentação apresentada, pelos PVCCD, não fundamenta o que pretendem, e a ‘clarificação’ a pedir, junto da Direção Geral do Património Cultural, terá de ser muito mais que ‘formal’, mas de substância, coincidindo com o que pretendem os VSCD, como se vai ver.
Além disso, não seria relevante verificar se, alguma vez, foram tomadas decisões importantes, com base no “perímetro de proteção definido” para aquele ‘Monumento Nacional’, que, afinal, não o era63?
b) Por sua vez, os VSCD disseram64 que, “desde sempre”, as Muralhas de Guimarães têm sido consideradas “Monumento Nacional”, pelo “real interesse nacional” que elas mesmas representam, “enquanto documento histórico intimamente ligado à defesa da cidade... e à própria consolidação da nacionalidade”, e pelo contido na Portaria de 04.07.1958 (DG de 30.08.1958).
Reconhece-se e apoia-se, totalmente, a vontade de servir Guimarães, mas, infelizmente, nem “sempre” as Muralhas foram devidamente ‘consideradas’ – muito longe disso, como mostram os exemplos enunciados
62 Url: “http://www.patrimoniocultural.gov.pt”. Url: “http://www.monumentos.gov.pt”

63
Como nota complementar, os PVCCD inseriram, na sua declaração de voto, informação sobre a tramitação a seguir no “procedimento administrativo de classificação” dos Monumentos, explicando que o pedido é formalizado, junto da Direção Geral do Património Cultural, a quem cabe instruir o processo, em articulação com a Direção Regional de Cultura do Norte, remetendo ao Governo a proposta de classificação. Reportaram-se, os PVCCD, à Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, que “estabelece as bases da política e do regime de proteção e valorização do Património Cultural” (que, para ser aprovado, tem de refletir “valores de memória, antiguidade, autenticidade, originalidade, raridade, singularidade ou exemplaridade” – e as Muralhas de Guimarães, já o que resta delas, correspondem a tudo isso), e ao Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, que “estabelece o procedimento de classificação dos bens imóveis de interesse cultural, bem como o regime das zonas de proteção e do plano de pormenor de salvaguarda”. Na perspetiva que defendo, para os modos de proceder, em situações deste tipo (que devem ser ‘sempre’ transparentes e fundamentados), esta informação vale pelo que comunica, mas ainda pelo bom exemplo que dá, sendo de relevar, por isso.
64
Os VSCD fizeram acompanhar a sua declaração de voto por umas importantes reflexões, de que sublinho, muito pela positiva, a seguinte: “Quando assistimos ao preocupante aumento do desinteresse dos cidadãos pela participação cívica na vida das suas comunidades, traduzido no significativo aumento do nível da abstenção nos atos eleitorais, sempre a ultrapassar os 40%, e a aproximar-se mesmo dos 50%, deveríamos perguntar a nós próprios qual a nossa quota de responsabilidade por tal situação.”. E destaco isto porque, num tempo em que uma das primeiras explicações que muitos encontram para justificar fracassos é, por exemplo, a responsabilidade dos ‘outros’, os presentes interventores vêm lembrar a verdade, que há mais, e mais profundas, reflexões a fazer, antes e além disso. Como os mesmos VSCD também muito bem reconhecem, a política – “política de proximidade”, do “saber ouvir e saber apreciar a opinião dos outros, as suas propostas... e apoiálas... ou... apresentar... soluções alternativas” – é cada vez mais imprescindível (K. Bizawu, 2019, p.63), para o “desenvolvimento consciente e pleno da potencialidade humana”, a nível individual e em sociedade.
acima, entre muitos outros possíveis.
À parte ter sido abrangida a ‘Vila’ (não a ‘Cidade’...), os VSCD assertaram, com inteira razão, o “real interesse nacional” das Muralhas de Guimarães, o seu valor como “documento histórico” ligado “à defesa... e à… consolidação da nacionalidade”. E também têm total razão ao destacarem que houve vontade (mas falhou a tramitação...) de reconhecer as ‘Muralhas de Guimarães’ como “Monumento Nacional”65 . Sobre a Portaria de 04.07.1958, que referem, já me pronunciei, acima.
Não estando, ainda, “formalizada a classificação da Muralha da Cidade [o que resta dela...] como Monumento Nacional”, entenderam, e bem, os VSCD, “ser chegada a hora” de isso acontecer, “votando favoravelmente” a Proposta do Vereador Torcato Ribeiro, com a qual disseram estar, “na generalidade, de acordo”.
Mais disseram os VSCD que, se o reconhecimento das Muralhas, Monumento Nacional, “tivesse, em verdade, ocorrido, aquando da publicação do Decreto, em 1910”, “não poderia o troço junto à Praça da Mumadona ter sido demolido...”, nem “a porta atualmente utilizada para entrada do pessoal do Município... poderia ter sido aberta”, nem, ‘provavelmente’, a Torre da Alfândega teria passado pelo “episódio recente” por que passou, nem “teria sido objeto das intervenções que foi, no passado recente”.
As boas intenções são claríssimas, por parte dos VSCD, e totalmente de apoiar, mas é preciso lembrar que não é possível ter garantias sobre o que afirmam, pois que, por tempos de 1910, e próximos seguintes, o estatuto de ‘Monumento Nacional’ (que não abrangeu as Muralhas de Guimarães...) não conferia, sobre os ‘Bens Culturais’ a que se aplicava, os efeitos vinculativos que hoje tem.

E a partir daí, o modo de tratar a Cerca vimaranense não melhorou. A prova disso é que a ‘ideia’ que o futuro interiorizou, sobre o Decreto de 1910, foi a de que as Muralhas de Guimarães (ou o que restava delas) eram, ‘efetivamente’, Monumento Nacional – e isso não impediu que, praticamente até hoje, fossem acontecendo percalços bem danosos, com os seus granitos.
Ao lamentarem que “o troço junto à Praça da Mumadona… [tenha] sido demolido”, referem os VSCD que tal aconteceu, “numa extensão próxima dos 150 metros, em 1943”.
Aqui, tudo indica estarmos perante um equívoco, mas, não tendo sido apresentada fundamentação, não é possível explicar como isso aconteceu.
Todavia, atendendo à relevância da afirmação, recordo o seguinte:
65 No meu modesto entender, não houve intenção, nem dolo, em todo este processo das Muralhas de Guimarães, que se arrasta, desde 1910, até aos dias de hoje. O que houve (tem havido...), e com muitos protagonistas (de então e de hoje), foi mais uma manifestação do tradicional “desleixo português”, já vivamente denunciado pelos cronistas antigos, em cuidarem das ‘matérias públicas’ que lhes dizem respeito.
As pedras das Muralhas de Guimarães não começaram a ser retiradas todas ao mesmo tempo.
A zona da Senhora da Guia foi uma das ‘oficialmente’ preferidas, por se encontrar num espaço em amplo desenvolvimento (Campo da Feira, Igreja dos Santos Passos, Edifícios da Colegiada, Igreja da Senhora da Oliveira).
Outra zona muito apetecida foi a proximidade do Castelo, de norte para sul, por ser escondida, e permitir que as pedras fossem recolhidas, anonimamente.
Em 1801, foram vendidas pedras das Muralhas, “dos Muros mais próximos do Castelo”, sítios da Freiria e dos Capuchos66, e “pedaços consideráveis”, delas, que permaneceram, foram removidos.
A pedra trabalhada, prontinha a aplicar, ia sendo retirada.
Por 1889, as Muralhas de Guimarães sofreram um “considerável embate”, na zona da atual Mumadona, quando foi aberta a Rua Serpa Pinto67 .
Esta rua, que estabeleceu ligação entre o Largo do Carmo, surgido do arranjo da confluência da Rua do Poço com a parte mais a norte da Rua de Santa Maria, e a estrada de Fafe, “implicou a demolição da Torre dos Cães [ou de parte do que restava dela...] e do Muro adjacente”68 .
Por 1923, foram operados “grandes derrubes”, nas Muralhas, no local da Torre dos Cães (junto da atual Praça da Mumadona), quando se decidiu construir o novo edifício dos Paços do Concelho69 e abrir a Rua Nuno Álvares Pereira. Apesar da reação verificada, a Muralha foi “cortada numa extensão de cerca de 50 metros”70
Em 1925, surgem protestos, em forma de ‘manifesto’ (17.11.1925, Manifesto ‘Guimarães Saqueada’, “grito da alma de um vimaranense”), sobre que se estava “destruindo, ali, na vizinha estrada de Fafe, parte da histórica Muralha de D. Dinis”, referindo-se que, “a título de melhoramentos locais, destroem-se as relíquias de uma antiquíssima e nobre terra, que tem direito a conservar aquilo que lhe legaram os seus
66

J. L. Faria, 1801. F. J. Teixeira, 2001, p.186. A par das Muralhas, o Castelo, desde há muito, que havia deixado de receber os devidos cuidados (J. B. Fonte, 1992, pp.32-35), ainda que fosse servindo, como cadeia, apoio logístico, arrecadação. L. M. Silva, 2015, pp.215-228.
67 M. J. Meireles, 2000, p.592.
68
69
F. J. Teixeira, 2001, p.187.
O projeto para os novos Paços do Concelho de Guimarães era de José Marques da Silva (1869-1947), arquiteto com obra vasta e reconhecida. O edifício, muito desejado pelo Presidente Mariano Felgueiras (1884-1976), mas que foi semi-realizado, e depois demolido, não está, garantidamente, entre as obras de melhor prenúncio, do Arquiteto. Mas foi em Guimarães que ele depôs a sua ‘marca de vida’, como homem e como artista, exatamente na Montanha da Penha, com o expressivo e meticuloso projeto, sublimemente executado, da Igreja do Santuário, com que “quis ‘rezar’... a Deus e à Virgem, a última prece da sua vida” (L. M. Silva, 2020, p.60).
70
F. J. Teixeira, 2001, p.189. “Infelizmente, este pouco que ainda nos resta dos imponentes muros da nossa terra sofreu já, em tempos recentes (vai em 32 anos), a afronta de ser destruído em parte, e em parte desviado da sua primitiva diretriz.” (M. Cardoso, 1957, pp.207-208).
antepassados”71 .
Mais tarde, por 1943, as grandes demolições que se fizeram não foram nesse local, mas na zona da atual Avenida General Humberto Delgado, nos Palheiros (a Avenida Duarte Pacheco, de então), de onde foram retirados pedaços de Muralha, que existiam colados aos ‘casebres’, vários deles, como se disse, descalçados, propositadamente, com esse fim.
Aí, na zona dos Palheiros (e não junto da atual Praça da Mumadona...),“foram demolidos vários troços de Muralha, numa extensão total de mais de 150 metros”, por 1943.
A afirmação, da “extensão próxima dos 150 metros, em 1943”, feita pelos VSCD, sem indicação de como foi obtida, e que, aplicada à Praça da Mumadona, está equivocada, pode ter sido influenciada pelo ‘site’ do SIPA72, mas transcrita inexatamente.
O SIPA/DGPC também não refere (como deveria) onde alicerça a sua informação, podendo ter sido em Moura Machado73, mas reporta-se, corretamente, à “atual Avenida General Humberto Delgado”, não à “Praça da Mumadona”74, e muito menos mais acima, à zona de Santa Cruz, Torre da Freiria75 .
Além disso, são conhecidas duas fotografias muito esclarecedoras76, de cerca de 1943, que representam a “demolição da Muralha, troço a norte, junto à Torre de São Bento, aos Palheiros”, e a “demolição da Muralha, no troço entre a Torre de São Bento e Torrilhão da Garrida, inflexão aos Palheiros”, no trajeto do Castelo.
Por 1943, era, nos Palheiros, que se operavam obras de fundo, sobre as Muralhas, e não junto à Praça
71 CG, 20.01.1925.
72 Url: “http://www.monumentos.gov.pt”. SIPA, 1943. Informação de Isabel Sereno & Paulo Dórdio, 1994.

73 J. M. Machado, 1985, p.46: “Foi ‘aqui’ que se efetuou o destroço mais recente [1943], ao demolir-se um pano de Muralha com mais de sessenta metros, e outros ainda... numa extensão total de mais de 150 metros, ao longo da atual Avenida do General Humberto Delgado” (Palheiros)
74 Informação SIPA, “http://www.monumentos.gov.pt”: Em 1943, “ao longo da atual Avenida General Humberto Delgado, foram demolidos vários troços de Muralha, numa extensão total de mais de 150 metros.”. Afirmação dos VSCD, ata camarária de 14.04.2016: Se a “formalização [da classificação da Muralha da Cidade, como Monumento Nacional,] tivesse, em verdade, ocorrido aquando da publicação do Decreto em 1910, não poderia o troço junto à Praça da Mumadona ter sido demolido, numa extensão próxima dos 150 metros, em 1943.”. Como vou, adiante, justificar, esta “formalização”, “aquando da publicação do Decreto, em 1910”, nunca seria possível. 75 O fim da Torre da Freiria começou a ser traçado, por 1667, com o “roubo” das suas pedras, e Muralhas adjacentes (J. L. Faria, 1667), e foi pelo norte, do Castelo para baixo, que estas se começaram a desmontar. O pano que ficou (Avenida Alberto Sampaio, entre a Torre dos Cães e a Senhora da Guia) deveu-se, primeiro, ao desinteresse que, a partir de certa altura, essas pedras passaram a suscitar, e depois, ao despertar da sensibilidade cívica, sobre Património, que se começou a gerar. Quando, em 1788, a Irmandade de Nossa Senhora da Consolação e Santos Passos conseguiu “pedra dos Muros”, também da Torrinha da Freiria, e imediações, para a obra da sua Igreja, a mesma Torre da Freiria já se encontrava “arruinada” (J. L. Faria, 1788). E o processo de desmonte dessa zona da Vila foi prosseguindo, pelo início do século XIX. Pelos anos de 1943, já era, apenas, restos e lixo, o que por lá se encontrava. 76 M. Bastos, 2013b, p.8.
da Mumadona77, ao cimo da Avenida Alberto Sampaio (antiga Rua dos Trigais78).
Por outro lado, nas Muralhas, o Torrilhão da Freiria e a Torre da Senhora da Guia “distam cerca de 420 metros”79, entre si. Atendendo aos registos existentes, ao pano de Muralha que hoje resta e às demolições que já haviam sido feitas, a norte nascente80, desde o século XVII, já não sobrariam, sequer, os alegados 150 metros de Muralhas, para demolir...
Em 1943, declarou-se que se encontrava “em muito mau estado de conservação... a parte superior das Muralhas, ao alto da Avenida Alberto Sampaio”81 , mas essa parte das Muralhas, junto e para baixo da ‘porta falsa’, resistiu, e é, sensivelmente, limpo o local e formada a nova praça, o que mantemos hoje.
Ainda nesse ano, realizaram-se, na verdade, obras82, não longe do local, mas foram “trabalhos de prolongamento da Rua Serpa Pinto até à nova Avenida de acesso aos Paços dos Duques e Castelo” (ligação da Rua Serpa Pinto aos Palheiros), com intervenção junto da casa que foi de Martins Sarmento.
Por aí, em 1947, trabalhava-se “no desmonte das Muralhas da Cidade, transformada numa montureira”83 .
Os ‘lamentos’ de Mário Cardoso, referidos pelos VSCD, sobre as Muralhas de Guimarães, reportam-se a 1925, quando foi feito o conhecido “corte” nas Muralhas, “numa extensão de cerca de 50 metros”, aberta a ‘porta falsa’, nas Muralhas, e criado o tal possível “quebra-cabeças”, para os investigadores, com “vivos protestos na imprensa”84 .
77
Em fotografia das Muralhas (“vista da antiga estrada de Fafe”, onde “foi, parcialmente, destruída, para abertura da Rua Nuno Álvares Pereira”), à guarda do AMAP (PT/AMAP/PSS/JF/0012/6-66-1-18), observa-se como as Muralhas, em 1922, estão muito danificadas, nesse ponto, e daí para cima (Url: “https://archeevo.amap.pt”). J. Fernandes, 1985, p.235: “1922 – Pano de Muralha da antiga estada de Fafe, parcialmente destruída para a abertura da Rua Nuno Álvares Pereira”.
78
79
80
M. A. Oliveira, 1986, p.35.
M. Bastos, 2013b, p.10.
Em 1667, as pedras dos Muros da Vila “começaram a arruinar-se, à Porta de Santa Cruz e Paços Reais”. J. L. Faria, 1667. Em 1788, a Irmandade de Nossa Senhora da Consolação e Santos Passos conseguiu “pedra dos Muros, no sítio dos Palheiros, e a Torrinha da Freiria, que se acha arruinada”. J. L. Faria, 1788.
81 NG, 21.03.1943.
82 NG, 14.11.1943.
83 M. J. Meireles, 2000, p.360.
84
M. Cardoso, 1957, p.208. Em 1925, alguém escreveu (CG, 20.01.1925) que a nossa “antiquíssima e nobre terra… tem direito a conservar aquilo que lhe legaram os seus antepassados”. Mas, na estrada de Fafe, estava a ser destruída “parte da histórica Muralha de D. Dinis, derradeiro vestígio desse glorioso cinto ameado que outrora rodeava a Cidade”, “como preciosa relíquia de um passado cheio de heroísmo e amor pátrio”. É “facto vandálico que merece toda a nossa censura e repulsa… que se está praticando, por bolchevismo moderno (entenda-se, ignorância e estupidez)”, “calcando as tradições imorredoiras de um povo que, daqui a dois dias, não tem história, não tem Monumentos, não tem nada!”.

E por mais compreensível e positivo que seja o desejo dos VSCD, de que o reconhecimento das Muralhas de Guimarães, como Monumento Nacional, em 1910, tivesse impedido situações como a ocorrida com a ‘Torre da Alfandega’, tal nunca poderia ter acontecido, porque, pelo que referirei adiante... ‘nunca’ (mas ‘nunca’) teria sido possível reconhecer as Muralhas de Guimarães, como Monumento Nacional, no Decreto desse ano.
E é preciso ir começando a dizer, sem rodeios nem ambiguidades, que: a) as Muralhas de Guimarães, em 1910, já não eram respeitadas como tal. O que restava delas era, simplesmente, um ‘estaleiro’, um depósito de pedras. E assim continuaram a ser, sujeitas às mais lamentáveis vicissitudes. b) E ainda que as omissões contidas no Decreto de 1910, acerca das Muralhas de Guimarães, foram, à luz do espírito desse tempo, ‘justificadamente’ voluntárias e intencionais.
É certo que esta questão do ‘reconhecimento’ das Muralhas como Monumento Nacional tem um valor relativo, para a História de Guimarães. Há outros assuntos, bem mais prementes, a tratar e resolver. Mas perante erros e omissões indevidas, transitando de geração em geração, o munícipe e então Vereador, Torcato Ribeiro esteve bem, ao salientar a falha e pretender ver reconhecido, ‘oficial’ e ‘formalmente’, o que ainda nos resta das magníficas Muralhas que outrora rodearam Guimarães, e os PVCCD e os VSCD estiveram, igualmente, bem, ao aprovarem a sua Proposta, gerando entendimento e conformidade, e dando, da política, a imagem colaborativa e construtiva, do que ela, realmente, deve ser.
Como não podemos recuperar os miseráveis estragos feitos, ao longo de muitas décadas85, séculos, até (por que, é evidente, nem os vimaranenses de hoje, nem Torcato Ribeiro, nem os PVCCD, nem os VSCD, são responsáveis...), ao menos ‘respeite-se’ e ‘registe-se’, autenticamente, o que ficou.

Mas a Proposta formulada veio criar uma oportunidade para se ir mais longe, na consideração das Muralhas de Guimarães, e não se foi.
Refira-se que:
a) O suporte legal para a classificação das Muralhas de Guimarães não pode ser procurado no Decreto de 16.06.1910, porque as Muralhas de Guimarães não aparecem referidas, nele.
b) É necessário esclarecer, o mais possível, o que são, hoje, ‘de facto’, as Muralhas de Guimarães – se apenas as suas partes visíveis (‘Aqui Nasceu Portugal’, Avenida Alberto Sampaio), ou também ‘as outras’, que
85 M. J. Meireles, 2000, p.77.
existem, e aparecem sumuladas no mapa que acompanha a Portaria de 04.07.1958, mas o adosso de edifícios dependentes, de um lado e do outro (‘Rua de Santo António’, Toural, Alameda, Senhora da Guia...), escondeu. Se hoje estão ocultadas, um dia poderão deixar de o estar, ou até poderão levantar problemas de sustentabilidade, e de responsabilidades diversas… por via da degradação, ou, porventura (oxalá isso nunca aconteça), de um cataclismo, por exemplo.
c) Daqui decorre que, ao reconhecer-se como Património Nacional o que resta visível, das Muralhas de Guimarães (‘Aqui Nasceu Portugal’, Avenida Alberto Sampaio), se poderá estar a adiar uma reposição do problema, no futuro, se porventura, ou quando, qualquer situação dessas se vier a colocar. Ou pretende-se, desde já, procurar salvaguardar essa resposta, com um articulado legal que o preveja?

d) Isto poderia levar, ainda (na perspetiva do conhecimento histórico, e etno-histórico, de que me ocupo, no presente trabalho), ao esclarecimento do que possa, eventualmente, subsistir dos antigos aforamentos (realizados desde o século XVII)86, e, o mais possível, de como se formaram, em que modalidades, por quantas vidas... Eles implicavam, sempre, direitos e deveres, serviços e contrapartidas, que, em determinada altura, sendo interrompidos, podem ter interferido com os títulos e a propriedade. E era interessante, para a História de Guimarães, conhecermos isso.

É legítimo perguntar: se os direitos transitaram, com quem ficaram os deveres? Como foram alienadas as posses públicas de propriedade? Como se processou a transição? Como foram justificadas87 as novas posses? Que disposições foram transmitidas (ou esquecidas) com elas? Que fundamentos
86
87
M. J. Meireles, 2000, p.33, p.75.
Na presidência de José Francisco dos Santos (1934-1937), na sessão de 08.11.1934, a Câmara deliberou “solicitar do Sr. Dr. Fernando Gilberto Pereira, [médico e professor do Liceu], autorização para, no pano de Muralha que possui no Largo 28 de Maio, [a mesma Câmara] fazer as seguintes obras: elevar, 3 a 4 fiadas, o referido muro, assentando sobre 8 ou 9 ameias de pedra” (M. J. Meireles, 2000, p.356, p.601). Quem lê este registo fica a saber que, em 1934, a entidade máxima da terra solicitou a um particular autorização para, com projeto e verbas
legais foram enunciados?
Além do seu interesse histórico, conhecimentos como estes também ajudariam a resolver, de futuro, situações ‘difíceis’ que, porventura, pudessem aparecer, como, por exemplo, a que se verificou, recentemente, com o que resta da Torre da Alfândega88 .
Seria, de facto89, muito proveitoso partir do que já conhecemos para a realização de um estudo, de dimensão plural, para se aprofundar, aos mais diversos níveis, o conhecimento sobre os pedaços de Muralhas que ainda existem e das edificações que se lhes encontram associadas – desde o levantamento da realidade, até à segurança, à conservação, às responsabilidades, à propriedade, às dimensões, aos pontos de contacto, aos serviços prestados, ao envolvimento cultural...
Temas destes são complexos, exigindo uma pluralidade de visões e contributos especializados, e teriam a maior utilidade, para Guimarães (sobrepondo-se a muitos outros...), apresentados em congressos, colóquios, encontros... sendo tema de dissertações, teses, estudos, trabalhos... sempre na perspetiva de satisfazer, acima de quaisquer ‘currículos pessoais’, o ‘currículo de Guimarães’.

Além disto, estão implícitas, na Proposta e nas declarações de voto referidas, surpresa e incompreensão, pelo facto de o Decreto de 1910 não incluir as Muralhas de Guimarães como Monumento Nacional.
Por detrás disso, está também implícita (sem ‘intenção’, é claro, mas está) uma acusação profundamente injusta, contra os políticos da 1ª década do século XX, Monárquicos e Republicanos (que, em matérias de Património, tinham entendimentos muito chegados), querendo-se significar que uns e outros foram tão públicas, fazer obras sobre um bem que, (ressalvando melhor informação), sem explicar porquê, nem quando, deixou de ser público, nem em que quadro legal isso aconteceu, com que direitos e deveres, e com que contrapartidas, para Guimarães.
88 Em 1793, “a Câmara representou à Rainha D. Maria I, protestando contra o aforamento do terreiro contíguo ao Muro, no Toural, pois este ficaria reduzido, informe e pouco adequado à montagem das feiras. A Rainha declarou os aforamentos nulos e ordenou ao Provedor da Comarca que demolisse a parte do referido Muro, para os enfiteutas poderem puxar as suas casas até à frente dele, conservando o campo a mesma largura” (Provisão Régia de 19.07.1793. J. L. Faria, 1793. Em setembro de 1812, “foi posta a lanços a pedra de ‘prepeanho’ tirada da Torre da Alfândega, que se andava demolindo…”. M. J. Meireles, 2000, p.78. Em 1950, o Museu Alberto Sampaio informou a DGMN da “tentativa em curso para montagem, “afrontosa da dignidade e orgulho legítimos” de Guimarães (NG 23.07.1950), de um café-restaurante, no pano de Muralhas situado no Largo 28 de Maio” (hoje, Largo 25 de Abril). O Museu esclareceu que o pano de Muralhas, ali existente, desde o Reinado de D. Dinis, nos princípios do século XIV, era propriedade legítima da Nação, tendo-lhe sido adicionada ou encostada, “por abuso próprio de degradação patriótica” (no século XIX), uma moradia particular que o Estado, aliás, “podia mandar desmontar quando o entendesse” (NG, 23.07.1950. M. J. Meireles, 2000, p.360).
89
A Câmara Municipal de Guimarães mostrou-se sensível à necessidade (2016) de iniciar um “processo de identificação de todo o cadastro e estudo de propriedade de todo o pano da Muralha e dos seus edifícios da Cidade de Guimarães”. Comunicado de 17.03.2016. Não tenho conhecimento dos desenvolvimentos havidos. Guimarães aguarda continuidades e resultados.
‘desleixados’ que relevaram o Castelo de Guimarães90, mas omitiram as suas Muralhas, como Monumento Nacional, no ‘seu’ Decreto, de 1910.
Ora, podem ser apontados muitos erros e excessos aos políticos de finais da Monarquia, e inícios da República, mas referir que desprezavam o Património e o que era genuinamente português e vimaranense, é acusação que não lhes cabe91 .
Uns e outros compreenderam a relevância do Património, e o seu valor formativo-cultural (as dimensões ‘Material’ e ‘Imaterial’ associadas...), e foram tão empenhados nele que publicaram o Decreto de 1910, e a legislação que lhe serviu de suporte e deu continuidade92. Aprovaram-no, uns, consentiram-no, mantiveram-no e deram-lhe sequência, os outros.
10 – As razões de as Muralhas de Guimarães não serem ‘Monumento Nacional’
Mas então: o que aconteceu para as Muralhas de Guimarães não serem incluídas, como foi o Castelo, na lista dos Monumentos Nacionais, de 1910?
A resposta pode parecer desconcertante, mas é a que é: as Muralhas de Guimarães… simplesmente, ‘não existiam’. E não existiam porque o que restava delas era, meramente, o referido ‘estaleiro’, depósito de pedra aparelhada, cedida para os mais diversos fins93 .
E os políticos dos primeiros anos do século XX tinham memória das ‘outras Muralhas’, as Muralhas garbosas, completas, verdadeiras, que tinham existido. Na sua sensibilidade, e na coerência do seu tempo, ao que restava delas, que se encontrava “em disputa de rua e de leilão”, não cabia o estatuto de Monumento Nacional.
90 O Castelo até foi contemplado, por duas vezes, em 1908 e em 1910.
91
Em questão de valores patrióticos, a República deu continuidade à Monarquia. A República que, seguindo modelos anteriores, era “medularmente burguesa, ordeira, moderada e afeiçoada a noções de propriedade, capital e liberdades, apego aos valores caseiros nos quais se incluía a defesa do património cultural e o ‘camonianismo’…” (J. Medina, 1990, p.172). É exemplo máximo desta combinação, Camões, solenemente celebrado, em 1880, que não era (como não é!) Monárquico nem Republicano, mas simplesmente... ‘Português’.
92
93
Url: “https://legislacaoregia.parlamento.pt”
Os ‘Bens Culturais’ valem pela materialidade que, formalmente, apresentam, e pela imaterialidade que lhes corresponde, formando uma ‘unidade’. Ambas as partes exigem o mesmo tratamento de rigor. O Castelo de Guimarães vale pelas suas formas, e pela “simbologia pátria nacional” que se lhe associa. Foi essa consciência que, repentinamente, ao reaparecer, o salvou de ser derribado, quando, em 1836, a Sociedade Patriótica Vimaranense pretendeu a sua demolição (F. Brito, 2014, p.54), e quando, “por 1911” (NG, 14.01.1951), foi proposto, por um Vereador da Câmara Municipal, que se empregasse a pedra do Castelo “na construção de um bairro operário”. E foi por terem perdido esse valor de Imaterialidade que as Muralhas de Guimarães foram destruídas, a princípio envergonhadamente, mas depois, às descaras, porque (apesar de terem as formas que tinham) se tornaram pedras sem sentido (Material sem Imaterial). E ainda por cima, estavam a obstaculizar a concretização de um ‘certo conceito’ de Vila/Cidade, tido como ‘superior’. No seguimento, foi dada, a essas pedras a única utilidade disponível, o seu reaproveitamento como material de construção.

Era impossível que os políticos desse tempo, Monárquicos e Republicanos, não soubessem que aqueles blocos escurecidos, que ‘estavam ali’, haviam pertencido a umas belas Muralhas, reduzidas a restos desconcertados, soltos, disponíveis para quem os quisesse requerer, e tivesse a dita de lhe serem atribuídos, mas… essas pedras nada tinham a ver com umas ‘Muralhas’ – eram apenas estorvos, blocos em fase de demolição.
Ao invés da ideia negativa que se possa ter, dos políticos de 1910, e que a Proposta e as declarações de voto, acima referidas, possam ajudar a enraizar, eles foram ciosos e exuberantes defensores do Património (Material e Imaterial), não sendo pensável que deixassem de fora de um Decreto seu (1910) um ‘Monumento’ significativo e enaltecedor (se, no seu entender, ele existisse...), da histórica Cidade de Guimarães, Pátria do grande D. Afonso Henriques.
Sublinhe-se que o Decreto de 1910 (e os contributos que o sustentam) foi publicado pelos Monárquicos. Mas sabemos que, por essa altura, eles não se balanceavam em matérias significativas sem terem a anuência, pelo menos tácita, dos Republicanos94, recebendo, em muitos casos, até, a sua colaboração. As instituições monárquicas estavam sem capacidade de iniciativa, e era ao Partido Republicano que cabia “pôr em agenda” muitas das “questões públicas” a considerar95 .
Em caso de discordâncias, os Monárquicos não avançavam.
Com o país rendido à “inevitabilidade da República”, esta ia exercendo influências profundas na governação monárquica, recebendo, até, a colaboração da maçonaria96 .

Se a velha Monarquia, em despedida, não merece a acusação de ‘desleixo’, em questões do Património, muito menos a merece a República, em ascensão.
Os Republicanos procuraram inculcar ‘valores’, ‘cultos cívicos’, à sua maneira, como “rituais simbólicos de uma pretendida nova religiosidade cívica – o culto da Pátria, da Bandeira e dos Grandes Heróis…”, e tudo o que implicasse ‘nacionalismo e patriotismo’97, onde, naturalmente, caberiam, se ‘existissem’, as Muralhas
94 J. Macedo, 1974, p.345.
95
A partir de finais do século XIX, os dois grandes partidos monárquicos da governação, Regeneradores e Progressistas, fragmentaram-se, gerando insegurança. A instável realidade do país dava força ao Partido Republicano (A. C. Homem, 2001, pp.22-23. A. H. O. Marques, 1981, pp.67-68), que, articulado com a Maçonaria e o seu braço armado, a Carbonária (A. C. Homem, 2001, pp.30-31), exercia um “formidável poder de atração sobre as massas populares, sobretudo nas cidades”, o que lhe conferia força e capacidade de influência (A. H. O. Marques, 1981, p.70). Por seu lado, a Maçonaria, com um número crescente de aderentes, tornara-se “quase completamente republicana, em orientação política”, e exercia, igualmente, grande influência sobre o poder (A. H. O. Marques, 1981, p.71). Os Monárquicos iam ganhando eleições, mas os sucessos dos Republicanos tornavam-se relevantes, tendo vencido eleições no Porto, em 1899, e em Lisboa, em 1910. Isto favorecia (e obrigava a) interações dos Monárquicos com os Republicanos (A. H. O. Marques, 1981, p.68, p.71. A. C. Homem, 2001, p.21), que, sendo em muitas matérias adversários ferozes, em matéria de património mostraram-se colaborantes.
96 J. Macedo, 1974, pp.346-347. 97 M. C. Proença, 2009, p.175.
E não apenas aí. Monárquicos e Republicanos, em matéria de práticas culturais, desenvolveram entendimentos aproximados99 .
À parte algumas “vozes contrárias”, no seio de ambos, Monárquicos e Republicanos foram “conciliadores e colaborativos”, em muitos “princípios e ideias”100, entre eles o Património Cultural, porque ambos o prezavam e acreditavam nele.
Em questões de educação, por si mesma, valores patrióticos, defesa dos interesses nacionais, defesa do Império, presença de Portugal em África, culto da ‘raça’ dos heróis... Monárquicos e Republicanos estavam do mesmo lado, embora as metodologias seguidas (por exemplo, envolvendo a dimensão religiosa, ou a ausência dela...) fossem diferentes, e rivalizassem uns com os outros sobre o modo (exigente) de as cumprir.
O Decreto de 1910 (e legislação envolvente), sendo anterior à República, foi, pelo menos, consentido pelos Republicanos, e deve notar-se que estes, chegados ao poder, não desfizeram, mas antes continuaram (à sua ‘nova’ maneira, é certo) o que estava feito101 .
Assim sendo, não é aceitável que se acusem, às claras ou às ocultas, os políticos da 1ª década do século XX, Monárquicos e Republicanos, de não terem considerado, no Decreto de 06.06.1910, as Muralhas de Guimarães, por ‘esquecimento’ ou ‘desleixo’, em questões de Património.
Assentamos, então, em que os redatores do Decreto de 06.06.1910 não classificaram as Muralhas de Guimarães como Monumento Nacional, porque, para eles, as Muralhas, simplesmente… ‘não existiam’. Ao ponto a que tinham chegado, eram pedra a granel, um estorvo ao desenvolvimento citadino.

E defender (na leitura de hoje) que os políticos da 1ª década do século XX deveriam ter respeitado o que, apesar de tudo, ainda existia das Muralhas, não fazia sentido (na leitura de então), porque, de facto,
98
99
M. A. Samara, 2009, pp.61-77, p.63, p.74.
M. C. Proença, 2009, pp.184-185. A continuidade, da Monarquia para a República, no âmbito cultural, refletiu-se, por exemplo, nos ‘prémios’ instituídos para os alunos da escola primária. Anúncio e condições de concurso para o fornecimento de estampas (9 quadros e 11 Monumentos, entre eles o Castelo de Guimarães), em 1907, destinadas a premiar os alunos das escolas primárias (Direção Geral da Instrução Pública, 1ª Repartição, de 23.07.1907. DG, n.º 162, de 29.07.1907), que a República continuou, por exemplo, com a instituição de ‘prémios’ para os alunos dos cursos de música e de teatro, do Conservatório de Lisboa, que criou, apresentando a arte como “meio de chegar à perfeição individual”, de “dirigir e educar as multidões”, de impelir “as multidões para os mais belos sentimentos” (Diário da Câmara dos Deputados, 18ª Sessão, 26.12.1911).
100 M. F. Rollo, 2009, p.230, p.235.
101 Um caso de exemplo foram os livros escolares. Em 1910, a Direção Geral da Instrução Primária Republicana faz ligação ao Regulamento de 19.09.1902, monárquico, para o “processo sobre os livros a aprovar, destinados ao ensino primário e normal, segundo os concursos abertos em 22.04.1909 e em 12.12.1908”, leitura, desenho, caligrafia, agricultura e corografia de Portugal. Entre os autores aprovados, pelos Republicanos, há nomes monárquicos, embora se diga que os conteúdos serão “atualizados, segundo as novas Instituições Republicanas do Estado” (Decreto de 17.11.1910. publicado no DG, de 22.11.1910).
não havia Muralhas, mas apenas ‘umas pedras’, à espera de serem levadas, que lhes haviam pertencido.
De lamentar, muito mais que essa ‘omissão’, no Decreto de 1910, é o abandono profundo a que, nesse tempo, as Muralhas de Guimarães já estavam devotadas, e que, por essa altura, se tivesse havido vontade, muito do mal que se fez ainda poderia ter sido remediado.
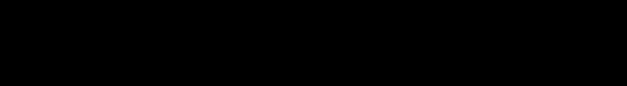
A diligente Proposta de Torcato Ribeiro, reforçada pela atitude colaborativa e construtiva dos PVCCD e dos VSCD, que a votaram favoravelmente, teve o grande mérito, direto, de chamar a atenção para a realidade ‘oficial’, ‘formal’, das Muralhas de Guimarães (do que resta delas), e, indireto, de alertar para os fundamentos e as consequências da sua sustentabilidade, enquanto Monumento de valor inestimável (hoje) para os vimaranenses e para Portugal.
Acrescentando-se-lhe as reflexões saídas das mais diversas origens, entre as quais o modesto contributo que apresento, com o presente artigo, e ainda outras que se lhe façam acrescer, Guimarães fica em condições de exigir de todos os organismos culturais (locais, regionais, nacionais, internacionais) a maior seriedade e respeito, e que seja feita justiça, com rigor, ao seu inexcedível Património Material e ao profundo Património Imaterial que lhe corresponde.

Vista atual das Muralhas, a partir da Praça Mumadona Dias. Fonte: https://www.viagensecaminhos.com/2020/11/guimaraesportugal.html

Tanto quanto julgo saber, não houve qualquer desenvolvimento, na matéria da Proposta formulada, depois de 2016, cabendo às entidades culturais de Guimarães empenharem-se, seriamente, de modo competente e sempre fundamentado102, no reconhecimento (também) ‘formal’, das Muralhas de Guimarães, como Monumento Nacional.
Uma sentida expressão de saudade, para com as Muralhas perdidas. Faço minhas, no essencial, as
102 Vem sempre a propósito lembrar a necessidade do maior cuidado a ter com a fundamentação, nestas matérias do Património Material/Imaterial, pelo respeito devido à verdade, e pelo direito que os destinatários da informação têm ao conhecimento e ao ‘escrutínio crítico’, sobre o que é comunicado, se o entenderem fazer. Os políticos de hoje não estão obrigados (mas não estão ‘mesmo’) a ser um Martins Sarmento, um Abade de Tagilde, um João de Meira, um Eduardo de Almeida, um A. L. de Carvalho, um João Lopes de Faria, um Alfredo Pimenta… Por regra, o seu tempo é muito preenchido, são muito solicitados, e podem nem estar dentro das matérias sobre que têm de se pronunciar e/ou decidir. Por isso, fazem o maior sentido propostas como a que apresentei, em 2015 (L. M. Silva, 2015, pp.13-16), no exercício do dever de cidadania, sobre o assunto.
palavras de Mário Cardoso, quando diz que as povoações “devem alargar, engrandecer, crescer”, para fora, “pela periferia”, e não de fora para dentro (como, historicamente, tem acontecido com Guimarães...), “por tumefação”.
Foi por isso que as Muralhas caíram, para “caber mais, lá dentro”, tornando Guimarães103, como diz, estronantemente, Mário Cardoso, “uma barriga inchada que... rebentou um cinto, no último furo” ...
Deverá lembrar-se, ainda com Mário Cardoso104, que foram as entidades a quem estava confiado defender Guimarães, o Cabido e a Câmara, que a atacaram e destituíram dos seus tesouros. Isto para que “não se tolere” qualquer ato de destruição sobre o Património vimaranense.
Para que não se tolere..., mas já se tolerou. E tolerou, por exemplo, quando, recentemente (GCEC, 2012), se destruiu o que, tradicionalmente, era (e tinha tudo para poder continuar a ser...) a ‘alegre Praça do Toural’105, cometendo-se um rude crime de “lesa-património”106 .

Queria-se uma “praça moderna” – das que “outras terras têm”, e Guimarães “não tem”? Nada contra. Fizesse-se essa praça, ‘fora’, abrindo mais horizontes à Cidade, preparando-a, até, para os ‘tais’ suspirados ‘cem mil habitantes’ a poderem ocupar...
Nunca sacrificando a vetustez, a alacridade, o rincão sagrado representado pelo Velho Toural!
Já que não é possível repor, completas – amplas, exuberantes, altaneiras –, as Muralhas de Guimarães (no Toural, há-de ser diferente, porque o futuro condenará o que lá se fez e tratará das reposições devidas!...), ao menos que se estime e preserve o que delas ficou, e se corrija o ‘erro-omissão’ cometido (que não foi praticado em 1910!...), dando seguimento à pertinente iniciativa do Vereador Torcato Ribeiro, na melhor hora construtivamente apoiada pelos PVCCD e VSCD, da Câmara Municipal de Guimarães, e procedendo, com celeridade e determinação, ao que for necessário para o reconhecimento do que resta das Muralhas de Guimarães, Monumento Nacional.
ALMEIDA, Eduardo de (1957). Verbetes. Guimarães em setecentos. O Muro do Toural em 1793 (entre a Torre da Piedade e o Postigo de S. Paio). Revista de Guimarães, 67 (1-2), pp.72-82.
AMAP – Arquivo Municipal Alfredo Pimenta.
103
104
105
M. Cardoso, 1922, p.418.
M. Cardoso, 1957, p.210.
T. P. Azevedo, 1845, p.318. 106
L. M. Silva, 2021, 112-115.
AZEVEDO, Torquato Peixoto de (1845). Memorias resuscitadas da antiga Guimarães, em 1692. Porto: Typographia da Revista Litteraria do Porto. [1692].
BASTOS, Miguel (2013a). À volta da Muralha. Guimarães: Ed. do Autor. [Orçamento Participativo, Câmara Municipal de Guimarães].
BASTOS, Miguel (2013b). Um percurso pelas Muralhas de Guimarães. Guimarães: Ed. do Autor.
BRAGA, Alberto Vieira (1959). Curiosidades de Guimarães. XVIII. Ruas. Casas. Muralhas. Torres. Obras. Décimas camarárias. Direitos paroquiais. Revista de Guimarães, 69 (1-2), pp.161-302.
BRAGA, Alberto Vieira (1992). Administração seiscentista do município vimaranense. Guimarães: Câmara Municipal. [1953].
BRITO, Francisco (2014). Guimarães entre 1853 e 1901: um apontamento político e social. Boletim de Trabalhos Históricos, Série III, Vol. III, pp.52-97.
CALDAS, António Ferreira (1996). Guimarães, apontamentos para a sua história. Guimarães: Sociedade Martins Sarmento. [1881].
CAMACHO, Joana Cristina Pestana (2018). O enquadramento teórico e conceptual da ação da DGEMN (1931-1975) Lisboa: ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa.
CARDOSO, Mário (1922). Evocação. Revista de Guimarães, 32 (4), pp.415-421.
CARDOSO, Mário (1957). A propósito das antigas Muralhas de Guimarães. Revista de Guimarães, 67 (1-2), pp.207-214.
CG – Jornal Comércio de Guimarães.

CM – Jornal Correio do Minho
CORREIA, Luís Miguel Maldonado de Vasconcelos (2011). Castelos em Portugal: retrato do seu perfil arquitectónico. [1509-1949]. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra.
CRASBEECK, Francisco Xavier da Serra (1992). Memorias resucitadas da Provincia de Entre Douro e Minho. Ponte de Lima: Edições Carvalho de Bastos. [1726].
CUSTÓDIO, Jorge (1993). Salvaguarda do Património – antecedentes históricos. De Alexandre Herculano à Carta de Veneza (1837-1964). In Jorge Custódio, et al. Dar futuro ao passado. Lisboa: SEC/IPPAR, pp.33-53. Url: “https://digigov.cepese.pt”.
DG – Diário do Governo.
DGEMN – Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (1937). O Castelo de Guimarães. Lisboa: Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais.
ESTAÇO, Gaspar (1625). Várias antiguidades de Portugal. Lisboa: Pedro Crasbeeck, Impressor d’ El-Rei.
FARIA, João Lopes de – Efemérides, Manuscrito da Sociedade Martins Sarmento.
FERNANDES, Joaquim (1985). Guimarães do passado e do presente. Guimarães: Câmara Municipal de Guimarães.
FERRÃO, Bernardo & AFONSO, José Ferrão (2002). A evolução da forma urbana de Guimarães e a criação do seu património edificado. In Câmara Municipal de Guimarães-GTL (Ed.). Guimarães Património Cultural da Humanidade. Guimarães: Câmara Municipal de Guimarães, vol. I, pp.5-185.
FERREIRA, Maria da Conceição Falcão (1986). Uma rua de elite na Guimarães medieval (1376-1520). Revista de Guimarães, 96, pp.81-150.
FONTE, João Barroso da (1992). O Castelo de Guimarães. Guimarães: Ed. do Autor.
GUIMARÃES, Alfredo (1940). O Castelo e as Muralhas de Guimarães. Notícia histórica. Porto: Porto Médico.
GUIMARÃES, João Gomes de Oliveira (1898). Apontamentos para a História de Guimarães. A Villa do Castello. Revista de Guimarães, 15 (1), pp.5-13.
HERCULANO, Alexandre (1982). Monumentos Pátrios. 1838-1839. In Alexandre Herculano. Opúsculos I. Lisboa: Presença, pp.173-219. [1909].
HOMEM, Amadeu Carvalho (2001). Da Monarquia à República. Viseu: Palimage Editores.
JN – Jornal Jornal de Notícias.
MACEDO, Jorge de (1974). Implantação da República em Portugal. In VEL-BC. Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura, vol. 16, p.345.
MACHADO, Barbosa (2009). De Guimarães. Planta manuscrita (c. 1569). Guimarães: Sociedade Martins Sarmento.
MACHADO, J. Moura (1985). A Muralha. In Joaquim Fernandes. Guimarães do passado e do presente. Guimarães: Câmara Municipal de Guimarães, pp.42-47.
MARQUES, A. H. de Oliveira (1981). História de Portugal - III. Lisboa: Palas Editores.
MEDINA, João (1990). Oh! a República. Estudos sobre o Republicanismo e a Primeira República Portuguesa. Lisboa: INIC.
MEIRA, João de (1921). Guimarães. 950-1580. Conferência inédita. Revista de Guimarães, 31 (3), pp.119-15r1.
MEIRELES, Maria José (2000). O património urbano de Guimarães. Braga: Universidade do Minho. [Dissertação de Mestrado].
NETO, Maria João (2001). Memória, propaganda e poder: o restauro dos Monumentos Nacionais (1929-1960). Porto: Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto.
NETO, Maria João (2010). Henrique Gomes da Silva (1890-1969). In Jorge Custódio (ed.). 100 Anos de Património. Memória e Identidade. Portugal, 1910-1920. Lisboa: IGESPAR, p.205.
NEVES, António Amaro das – Blogue, Memórias de Araduca. Url: “http://araduca.blogspot.com.”.
NG – Jornal Notícias de Guimarães

OLIVEIRA, Manuel Alves de (1986). Guimarães numa resenha urbanística do século XIX. Guimarães: S/L.
PINA, Luiz de (1933). O Castelo de Guimarães. Gaia: Edições Pátria.
PROENÇA, Maria Cândida (2009). A educação. In Maria Fernanda Rollo & Fernando Rosas (Coords.). História da Primeira República Portuguesa. Lisboa: Tinta-da-China, pp.169-189.
RAACAP – Real Associação dos Arquitetos Civis e Arqueólogos Portugueses (1881). Relatório e mapas acerca dos edifícios que devem ser classificados Monumentos Nacionais... Boletim da Real Associação dos Architectos Civis e Archeologos Portuguezes, tomo 3, n.º 6, pp.83-87, n.º 7, pp.100-102, n.º 9, pp.135-140.
RIBEIRO, José Torcato (2016). Proposta de 29.03.2016. Câmara Municipal de Guimarães: Reunião Ordinária da Câmara, de 14.04.2016. [Agradecimento, pelo envio].
ROLLO, Maria Fernanda (2009). Paradigmas frustrados: perseguição e fuga da modernidade e do progresso. In Maria Fernanda Rollo & Fernando Rosas (Coords.). História da Primeira República Portuguesa. Lisboa: Tinta-da-China, pp.229-244.
SAMARA, Maria Alice (2009). O Republicanismo. In Maria Fernanda Rollo & Fernando Rosas (Coords.). História da Primeira República Portuguesa. Lisboa: Tinta-da-China, pp.61-77.
SAMPAIO, Alberto (1911). O Castelo de Guimarães. Jornal Independente, 05.08.1911. [1903].
SILVA, Henrique Gomes da (1935). Monumentos Nacionais. Orientação técnica a seguir no seu restauro. In DGEMN. Boletim da Direção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, 1. A Igreja de Leça do Bailio. Lisboa: Direção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, pp.19-20.
SILVA, Lino Moreira da (2015). Os Largos da Misericórdia e de João Franco, em Guimarães. Espaços e história. Guimarães: Ed. do Autor.
SILVA, Lino Moreira da (2020). As Imagens de Nossa Senhora da Penha, Guimarães. Dicionário da Penha. Guimarães: Ed. do Autor.
SILVA, Lino Moreira da (2021). Nos vinte anos do Centro Histórico de Guimarães – o Toural de hoje. In Jorge Nascimento (Org.). Osmusiké, Caderno 3, pp.112-115.
SMS – Sociedade Martins Sarmento.

TEIXEIRA, Fernando José (2001). O Castelo e as Muralhas de Guimarães: apontamentos para a sua história. Guimarães: Editora Cidade Berço.
UNESCO – 2003. Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial. Paris: Unesco. [32ª sessão, 17.10.2003]. Url: “https://ich.unesco.org”.
O velho Teatro Jordão vai deixar saudades! Com efeito, ainda nos lembramos dos sábados de outrora e da paciente espera na fila, bem cedo, para obter um bilhete da última fila da geral: a fila J! Os sábados eram efetivamente dias felizes de assistência à matiné, geralmente uma coboiada ou um filme de aventuras, na arte de bem esgrimir capa e espada… De facto, nessas décadas de 60, cinco escudos era o preço da felicidade, tal como um copo de leite e canela para ver, na TV do café, o Zorro e o Bonanza …
Depois, o Teatro Jordão seria ainda o espaço de algumas sessões das Danças Nicolinas e da nossa célebre récita de Finalistas 71, que acabaria com pateada, devido à proibição de uma dança dita “revolucionária”. Por isso, tal como esse tempo, apesar das vicissitudes da censura, que se prolongaria até 1974, o Teatro Jordão deixa saudades e não há recuperação que reverta essa época de ouro da nossa mocidade.
Mas ainda bem que o Teatro Jordão não vai cair como os demais ao longo dos últimos séculos, apesar de encerrado desde 1993. Com efeito, graças ao projeto da Câmara Municipal denominado “Requalificação do edifício do Jordão e garagem Avenida para escola de música e artes performativas e visuais”, cujas obras se iniciaram em janeiro de 2019, o Jordão vai ganhar nova vida e devolver-nos a sua dignidade, como adiante se verá, a propósito da sua recente reabertura, em 12 de fevereiro de 2022.
Mas voltemos ao velho Teatro Jordão, inaugurado em 20 de novembro de 1938, e que se deve a Bernardino Jordão (1868-1940), empresário nascido em São Romão de Arões, em Fafe, que adotaria Guimarães como a sua cidade e que por cá ficaria entre nós. Um homem de negócios que estaria também ligado à eletricidade, indústrias de padaria e moagem, diversos estabelecimentos comerciais e, curiosamente, uma fábrica de pirolitos.


De facto, graças ao empreendedorismo deste homem, à sua visão antecipada do futuro e dedicação a Guimarães, onde criaria profundas raízes, Bernardino Jordão lançar-se-ia nesta audaz empreitada. Obra que, segundo folheto
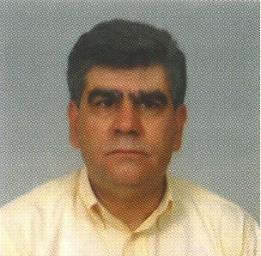
distribuído na época, citado em Memórias de Araduca, assumiria dimensões impressionantes: “Para dar uma pequena ideia desta obra apresentam-se os seguintes dados: gastaram-se entre outros materiais 979 camiões de areia, cascalho e saibro; 684 camiões de perpianho e alvenaria; 62 vagões de cimento, cal, gesso e marmorite; 13 vagões com 12700 quilos de ferro; 31000 ou seja perto de 30 vagões de tijolo SIMCO gastos para os pavimentos. Só os pinheiros utilizados na obra somam um comprimento que chega para fazer uma via dupla desde a Praça do Toural até à Penha. As tábuas e escoras gastas nas cofragens e soalhos chegariam para fazer um tapamento a toda a volta da Praça do Toural com uma altura de 20 metros. Se carregássemos um comboio com todo o material gasto nesta obra, teríamos uma composição de 835 vagões, excluindo a máquina e o tender, ou seja, um comprimento total de 9,2 quilómetros, isto é, uma distância igual à que vai da estação de Guimarães até Vizela. Com as 926 lâmpadas num total de 46000 watts aplicadas na iluminação e distanciadas de 10 m. podíamos iluminar toda a linha.”
De facto, na altura, a sala de espetáculos comportava cerca de 1200 lugares e era das poucas casas que permitia a organização de sessões de ballet, ópera, teatro, orquestra e cinema, sendo considerado, na época, o terceiro melhor cineteatro do nosso país.
Com efeito, implantado na Avenida Cândido dos Reis (atual Avenida D. Afonso Henriques), o Teatro Martins Sarmento, como inicialmente se denominaria, uma vez que as convicções políticas republicanas de Bernardino Jordão impediriam, na altura, o uso do seu apelido no frontispício do imóvel, acabaria cerca de dois anos depois por conquistar a sua denominação atual: Teatro Jordão.
Assim, também a inauguração se faria com pompa e circunstância, ficando na memória da cidade. Um programa que contaria com um Serão Vicentino, com a representação das peças Monólogo do Vaqueiro, do Auto Pastoril Português e do Auto Mofina Mendes, pelo Teatro Nacional Almeida Garrett, em cujo elenco pontuavam nomes de luxo como Amélia Rey Colaço, Lucília Simões, João Vilaret, Álvaro Benamor ou Raul de Carvalho.
Um espetáculo de ouro e memorável que contaria também com a participação da Orquestra Ibéria e cujo espaço seria perfumado pela Sociedade de Perfumarias Naily, com o perfume Noite de Prata.
Por sua vez, o cinema teria a primeira sessão em 24 de novembro, com a sala à cunha, e exibição do filme “Vou ser raptada”.
Palcos de outrora
Porém, longa é a história das casas de espetáculos de Guimarães até à inauguração do Teatro Jordão. No ano de 1929, a urbe vimaranense discutia, através da sociedade de Propaganda e Defesa de Guimarães, a necessidade de dotar o burgo de um teatro condigno, que resolvesse a questão de encerramento do Teatro

D. Afonso Henriques, demolido em 1933 por falta de condições de dignidade. Deste modo, em 18 de fevereiro de 1936, a Câmara Municipal de Guimarães, presidida por José Francisco Santos, reuniria para deliberar acerca da construção de um novo teatro que, tendencialmente, apontava para a reconstrução do Teatro D. Afonso Henriques. Porém, entrementes, Bernardino Jordão já estaria a trabalhar no projeto que acabaria por avançar para o terreno em 22 de fevereiro de 1937.
O Padre António Ferreira Caldas, na sua obra “Guimarães – Apontamentos para a sua história” (páginas 125 a 129), fala-nos desses palcos fundamentais:
“O primeiro teatro, de que entre nós há memória, era junto à torre dos Cães, perto da atual capela da Senhora da Guia, e encostado â muralha da vila, que hoje fecha os quintais do priorado. Não passava dum simples barracão (…) mas onde ainda assim, os estudantes de Guimarães, pelos anos de 1769, realizaram concorridíssimos espetáculos (…)
Outro, quase contemporâneo deste, era a casa da Tojeira, que ficava à esquerda da entrada para o Largo dos Duques de Bragança (…) no qual se representavam dramas e tragédias, entre os quais figurou a famigerada Inês de Castro (…)
Havia ainda em 1819, sem eu poder determinar-lhe o local, a casa da ópera, onde os estudantes de Guimarães levaram à cena várias tragédias (…)

Mais modernamente havia o teatro do conde de Vila Pouca, que ficava nas suas casas, hoje armazém de vinhos maduros, junto à margem esquerda do rio do Campo da Feira (…). Este teatro acabou, propositadamente incendiado, na noite de 18 de janeiro de 1841.
A 21de janeiro de 1849, (…) planizou-se a fundação de um novo teatro, por meio de ações de 1$000 reis. Levou-se a efeito o plano: e fez-se o teatro em parte do extinto convento de S. Francisco, num grande salão, que faz esquina para a rua dos Terceiros, sendo inaugurado a 6 de maio do mesmo ano, com o drama em 5 atos O Cigano e a comédia O Duelo no terceiro andar (…)
Em 1853, igualmente por meio de ações de 10$000 reis, principiou-se no largo do Campo da Feira o atual teatro, intitulado de D. Afonso Henriques, como nascido aqui nesta nossa terra. (…)
Ultimamente, na rua de Gil Vicente, nos terrenos da casa, em construção, da Associação artística, levantou-se um barracão de madeira, onde uma companhia de atores ambulantes tem levado à cena vários dramas e comédias. Intitulava-se Teatro de Variedades e foi inaugurado (…) representando-se a opereta cómica em dois atos, Mateus, o braço de ferro e várias comédias. (…)
Poucas semanas depois improvisou-se ainda outro teatro, num salão, no largo do Retiro (…)
Finalmente, em substituição destes, que pouco duraram, levantou-se na mesma rua Gil Vicente e em terrenos pertencentes a José Joaquim da Silva, ainda outro teatro-barracão, com mais espaçosas dimensões e uma ordem de galerias. Intitulava-se Novo Teatro de Variedades e foi inaugurado a 1 de maio de 1880, com a comédia O tio Mateus e o processo do rasga.”
Recentemente, com as novas exigências culturais, surgiram novos tablados e telas, como o S. Mamede, o Multiusos e o Centro Cultural Vila Flor, espaços adequados para a dimensão de Guimarães, Capital Europeia da Cultura.


Como atrás referimos, com um investimento de 12 milhões de euros, dez dos quais financiados pelo FEDER, foi inaugurado no passado dia 12 de fevereiro o projeto de recuperação do emblemático Teatro Jordão e de reconversão da contígua Garagem Avenida, que passam a dispor de novas funcionalidades.
Deste modo, a nova infraestrutura cultural alberga, agora, uma Escola de Artes Visuais, que vai ocupar 2855 m2, disponibilizando 17 salas de ensino (ateliê, projeto, geometria, teóricas e de fotografia) e ainda 10 gabinetes de professores e dois espaços de exposição.
Por outro lado, funciona ainda no espaço a escola de Música do Conservatório de Guimarães com 56 salas de ensino (salas de conjunto, estudo individual, ensino prático e ensino teórico), que conta também com 3 compartimentos para professores e biblioteca.
Avenida recuperada
Outrossim, funciona ainda, no espaço, a Escola de Artes Performativas, que conta com 8 salas de ensino (salas de ensaios e de apoio) e 3 gabinetes para docentes.
Além disso, foi ainda edificada uma nova passagem pública, através de escadas, que liga a rua de Vila Flor à Avenida D. Afonso Henriques.
Reabre assim, na cidade, uma sala com carradas de memórias, inaugurada em 1938 e encerrada desde

1993, cujo espaço se encontra praticamente irreconhecível, particularmente no seu auditório, que dos 1200 lugares da sala original estão, agora, reduzidos a cerca de 400, ainda que com outras condições técnicas e de conforto próprias da atualidade.

Entretanto, na cerimónia formal de inauguração, marcaram presença o presidente da CCDR-N, Engenheiro António Cunha, o Presidente da Câmara Municipal, Domingos Bragança, o Reitor da Universidade do Minho, Rui Vieira Castro e o Presidente do Conservatório de Guimarães, Vítor Matos, bem como muitos outros convidados. O programa alusivo contaria com um excerto do primeiro ato de “A Gaivota”, de Anton Tchékhov , interpretado por alunos do 2º. ano da Licenciatura em Teatro da Universidade do Minho e uma atuação dos Jovens Cantores de Guimarães que interpretariam “Lullaby” de Daniel Elder e “We are the voices” de Jim Papoulis. Entretanto, durante esta interpretação seria ainda projetado um pequeno filme alusivo ao processo de recuperação dos imóveis e, seguidamente, proceder-se-ia à abertura da exposição “A Avenida do Jordão”, organizada pelo Cineclube e pela Muralha. Igualmente, ocorreria uma visita guiada às instalações e a pré-inauguração da exposição Atelier Aberto LAV 2018-2022, na Galeria da ex-Garagem Avenida.
Na circunstância usariam também da palavra algumas entidades presentes.
Destarte, o maestro Vítor Matos, presidente da Sociedade Musical de Guimarães, referiu que este dia fica como “um dia histórico para Guimarães”, que “representa uma admirável conquista no processo de afirmação de Guimarães enquanto território pioneiro e vanguardista na promoção e fomento de uma cultura do conhecimento centrada no domínio das artes”. E, depois de se referir ao júbilo que todos sentem neste dia de festa, acrescentou a finalizar, que, “por entre estas paredes entrarão crianças e jovens carregados de sonhos e quimeras. São eles o amanhã, serão eles portadores dos valores que orgulhosamente nos trouxeram até aqui. A nossa missão passa pelo engrandecimento do indivíduo através da música e das artes criando melhores pessoas e, por conseguinte, melhores cidadãos”.
O reitor da Universidade do Minho, Professor Rui Vieira de Castro, começou a sua intervenção por referir que se tratava de um “momento de grande alegria para os cidadãos de Guimarães, os órgãos representativos do município e para a universidade”. Para ele trata-se de mais uma “afirmação de Guimarães como cidade universitária”. “Esta inauguração tem um enorme significado para a Universidade do Minho, porque

garante condições de elevada qualidade nas artes visuais e no teatro, permite pensar novos projetos completares de natureza educativa e científica, alicerçar novas possibilidades de interação com outras entidades”.

Por seu turno, o Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Dr. Domingos Bragança, no seu discurso via streaming, lembrou que em Guimarães transforma-se “memória em futuro” e que é um lugar onde a “tradição e o território se confundem”. E acrescentou que se “já éramos um importante centro de consumo cultural, a partir de hoje seremos também conhecidos como território promotor e formador de arte e cultura”. E mais à frente concluiria, emocionado, que “se outrora este espaço foi de encontros, de felizes acontecimentos, de histórias infindáveis para contar, um dos ícones da vida social vimaranense, a partir de hoje, dentro desta casa, não há razão para que não continuemos a ser felizes. Nesta casa também se escreverá a história feita futuro que alimenta Guimarães”.
Por sua vez, António Cunha, presidente da CCDR-N, referiu-se a este equipamento educativo e cultural como obra “notável na dimensão física, mas também em tudo o que potencia”, por se tratar de um projeto “multidimensional, de educação e investigação em artes visuais, teatro e música, e nas suas várias interseções”. Este complexo, afirmou “será um grande polo de criatividade e cultura, um Bairro C, de criatividade e conhecimento”. E a concluir disse ainda que “esta casa tem que ser uma casa de encontros de criadores, para partilha de ideias e saberes, uma casa de experiências que permitam germinar o génio criador, de experiências imersivas em ambientes culturalmente ricos. Que seja um espaço e uma dinâmica necessariamente aberta aos cidadãos”.
Aspeto da exposição aberta no dia da Inauguração
Entrementes, nos dias seguintes à inauguração, decorreria a denominada “Porta Aberta” e visitas guiadas às instalações e equipamentos requalificados. Por sua vez, a 17 de fevereiro ocorreriam as comemorações do 48º. aniversário da Universidade do Minho, com um concerto comemorativo. O programa comemorativo encerraria a 24 de fevereiro com o concerto “Kinematic”, a cargo do Quarteto de Cordas de Guimarães. Sem sombras de dúvidas, mais uma valia e marco estratégico na afirmação de Guimarães como cidade de “cultura, educação e ciência, aberta e cosmopolita, contemporânea e sustentável”, na esteira dos pressupostos da Capital Europeia da Cultura 2012, acontecido há 10 anos.



Este é o sítio das Artes, da estética e expressão, da imagem e da palavra também.
Divulgamos os nossos artistas com as suas obras, umas mais recentes, outras nem tanto.
Artistas há, que persistem, outros deram lugar a quem ainda não tinha chegado à galeria dos nossos cadernos.
Das exposições damos conta daquelas referentes aos que connosco estão.
E falamos das questões da arte, artistas, memórias e presenças.
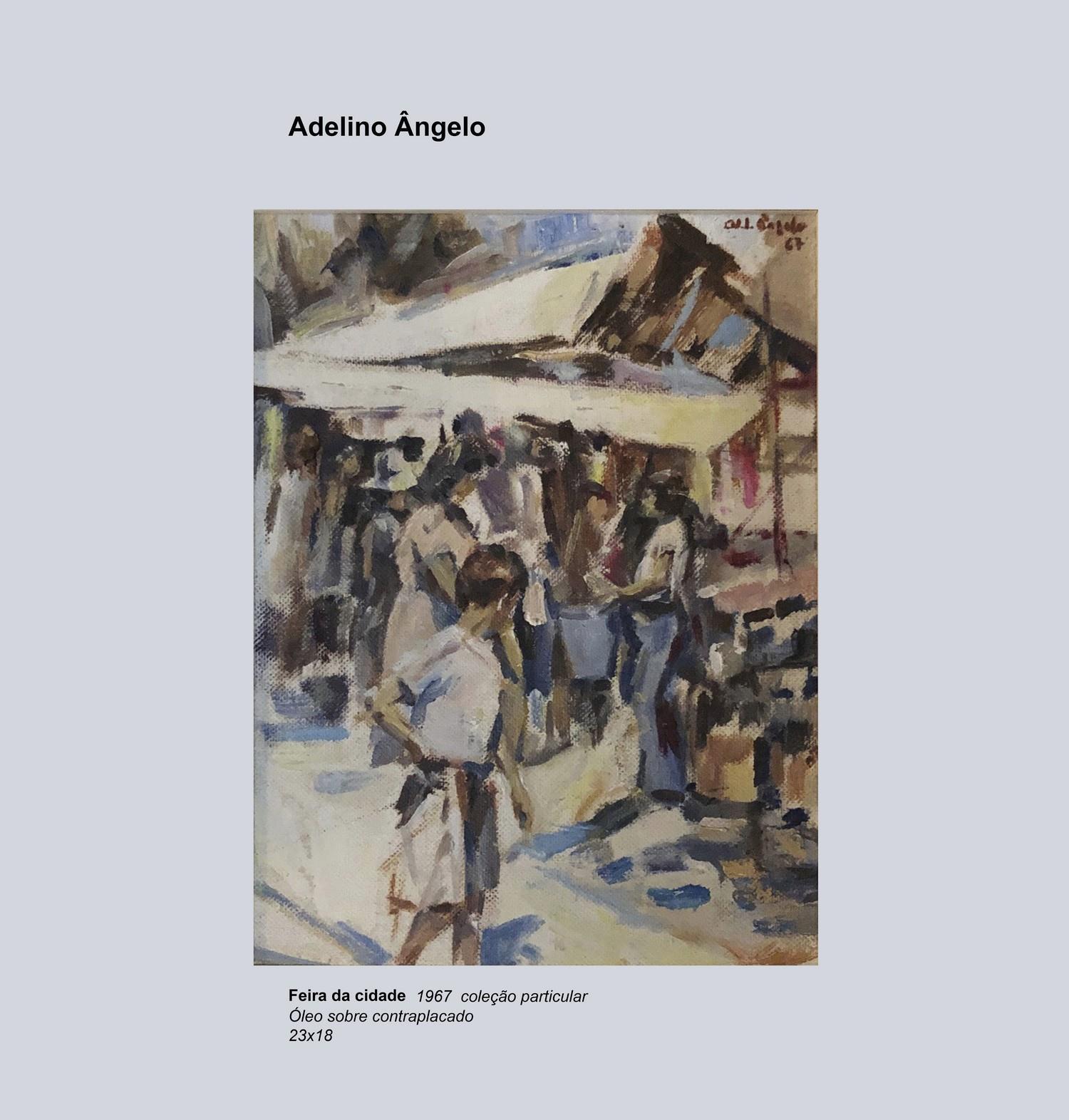



 Vítor Costa
Vítor Costa

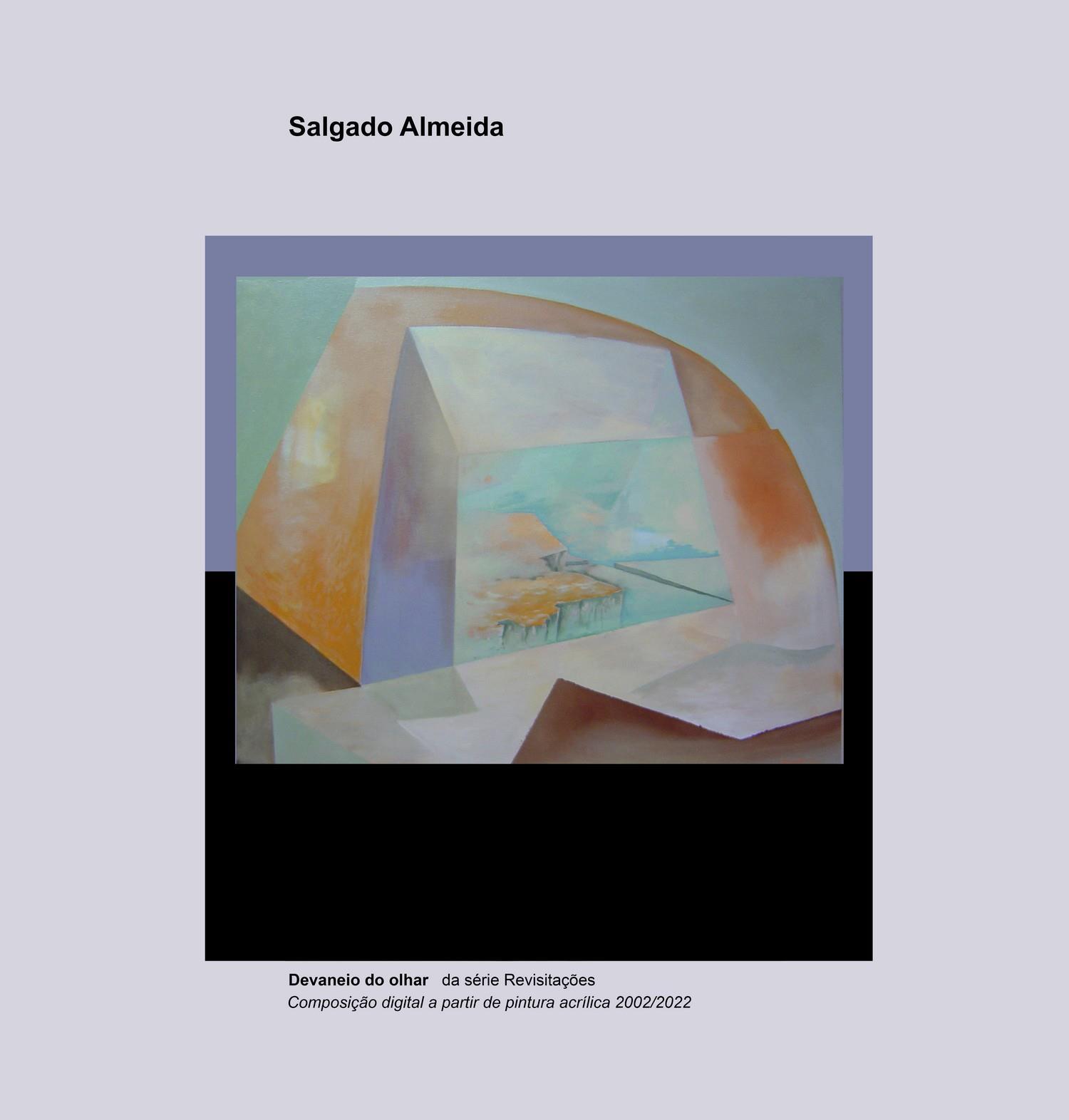
 J. Salgado Almeida
J. Salgado Almeida

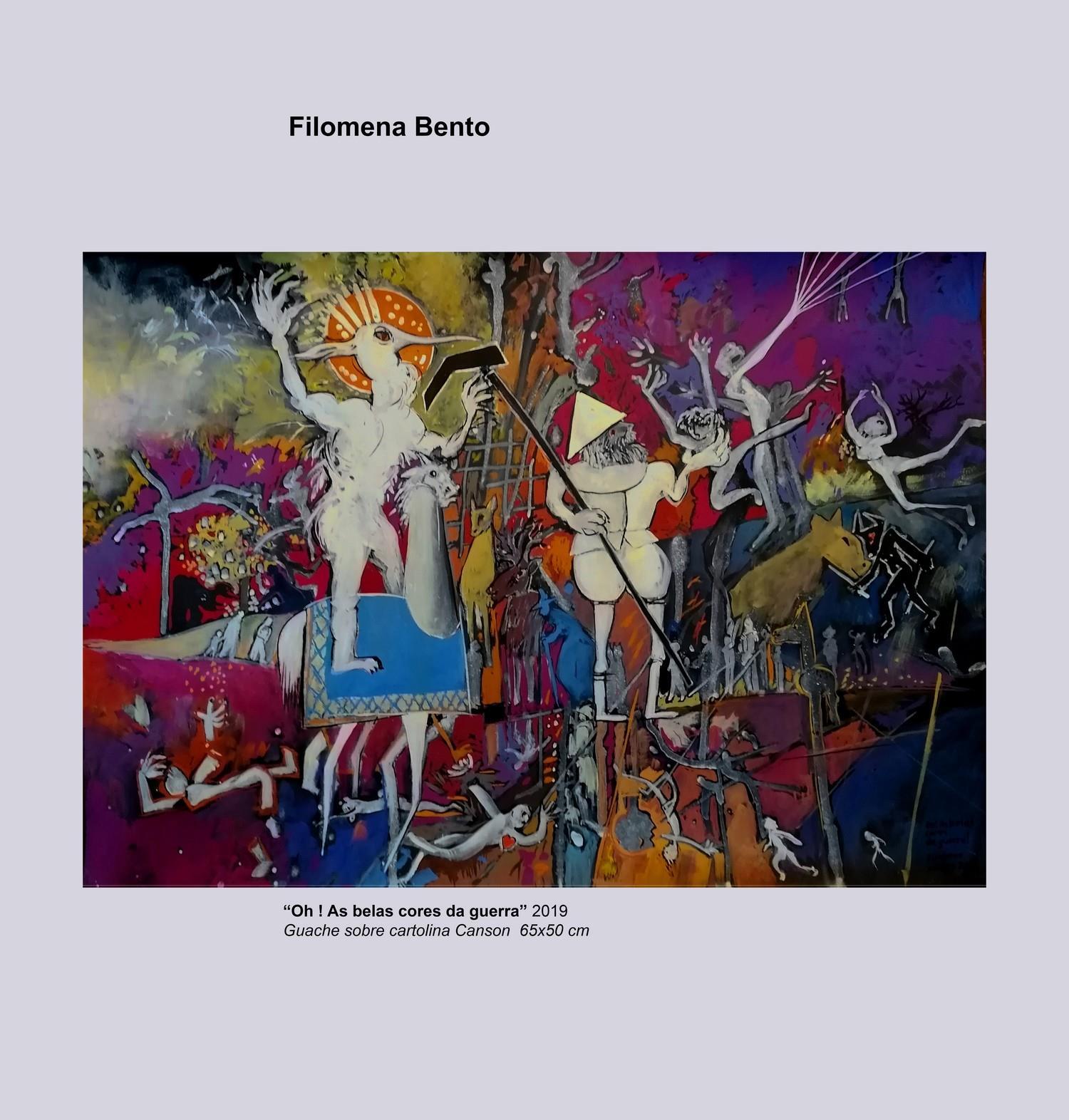
 Viana Paredes
Viana Paredes
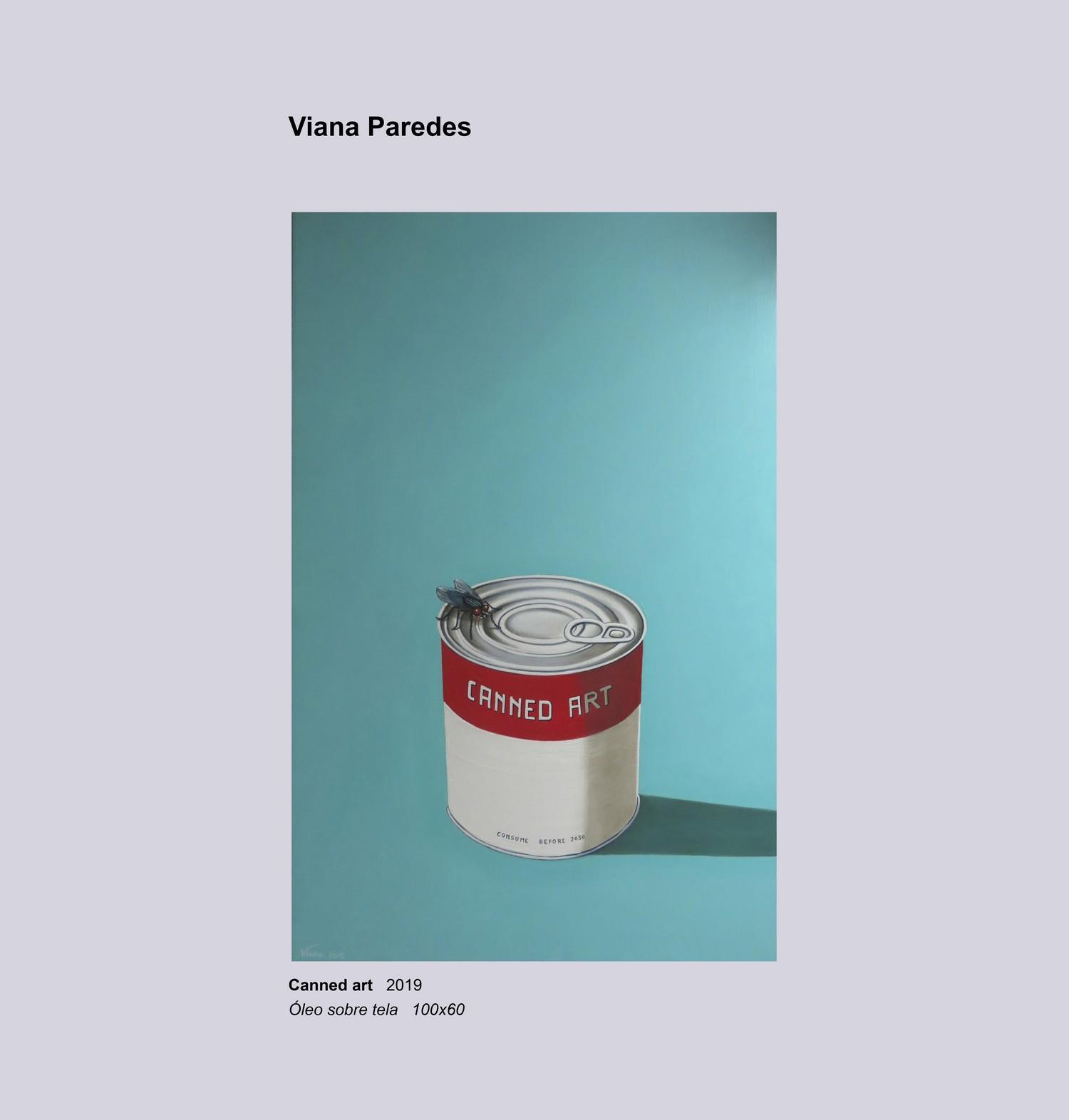
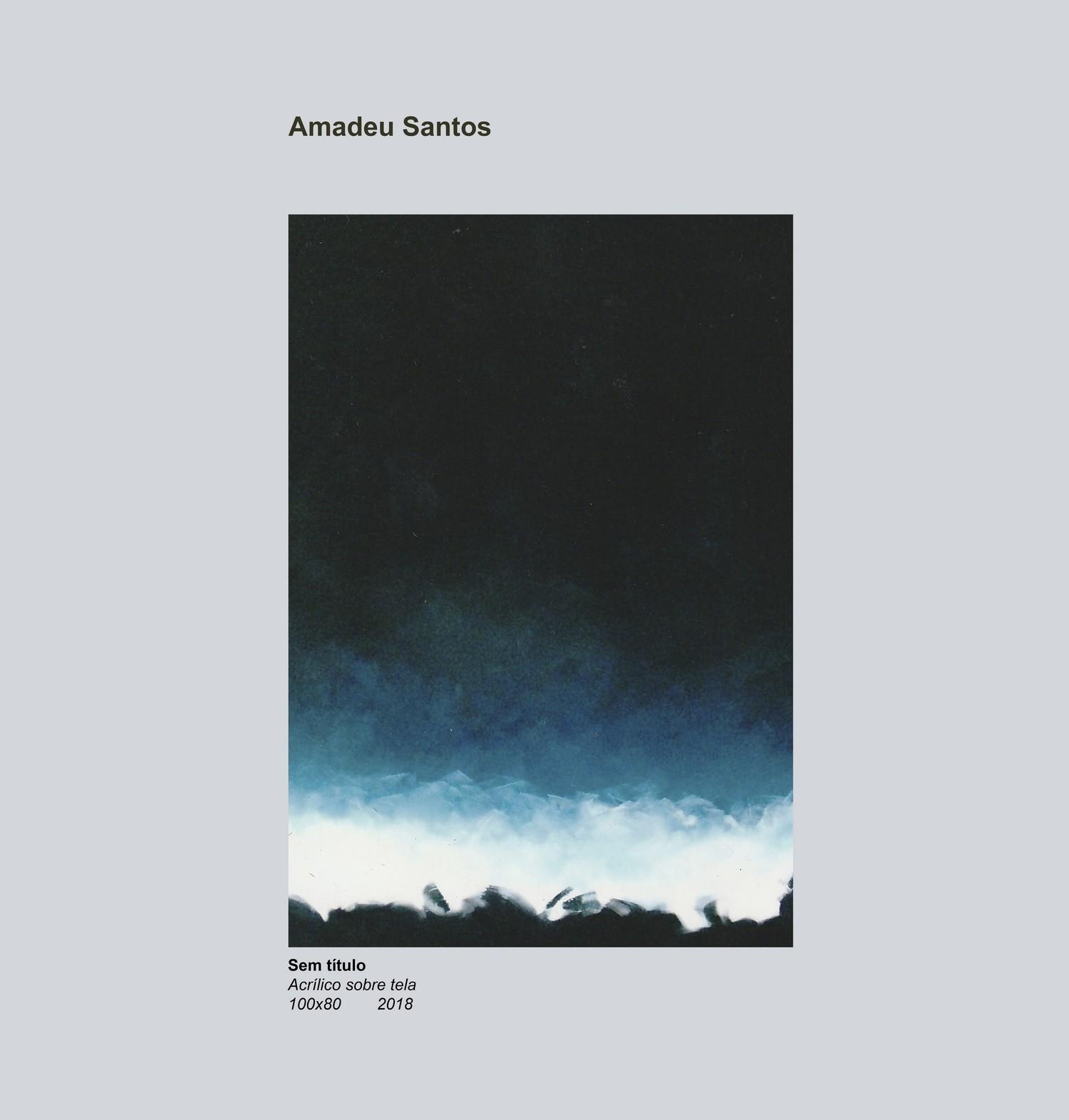

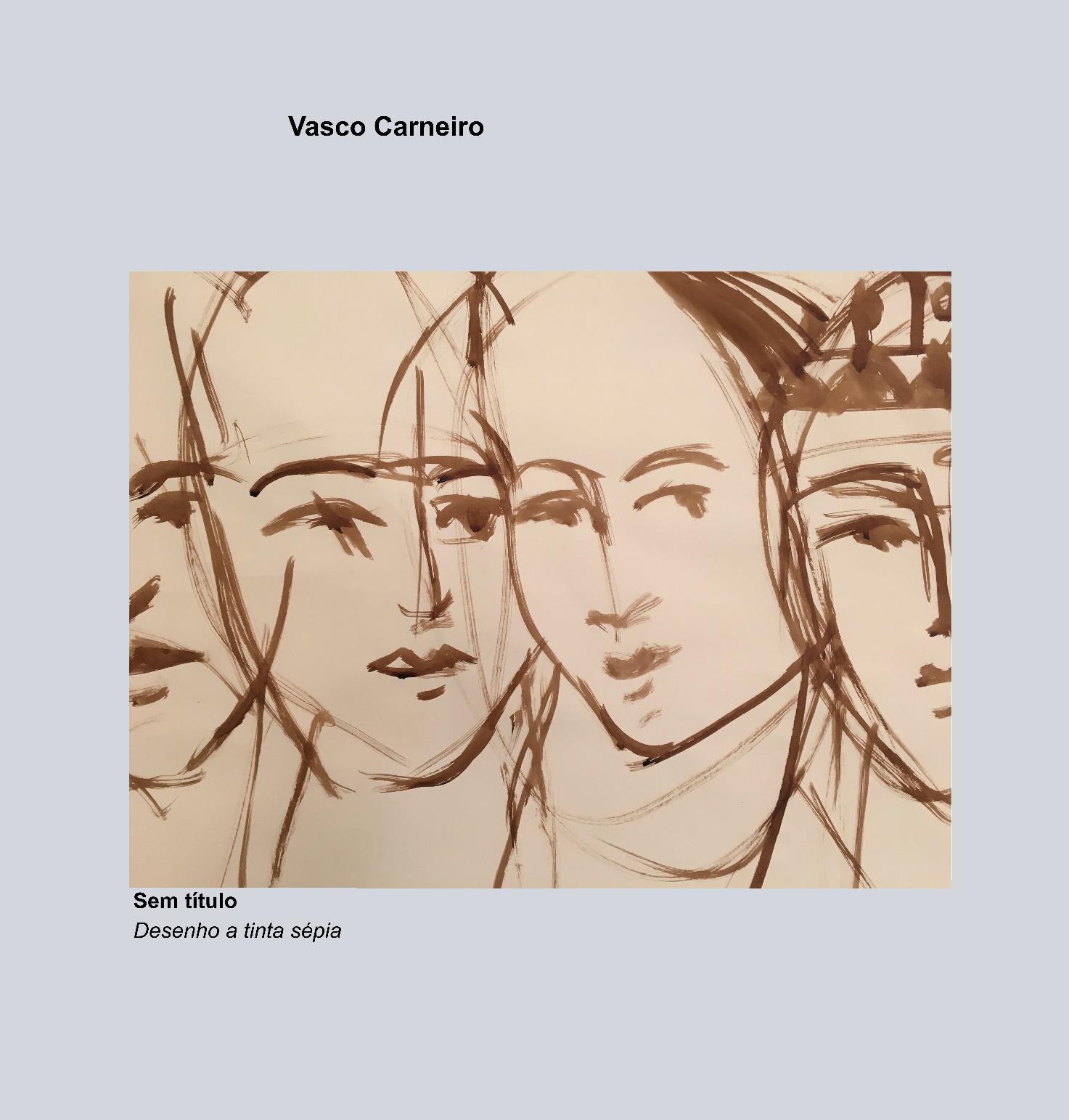

Guimarães é Património Mundial da Humanidade, foi Capital Europeia da Cultura, tem uma dinâmica cultural digna de uma grande cidade.
No entanto, ao nível da obra escultórica, a cidade praticamente ficou na mesma, sendo que o valioso património já existente até dois mil e doze, onde constam obras de alguns dos maiores escultores portugueses, faria supor o redobrar de uma dinâmica de novas obras.
Por ocasião da Capital Europeia da Cultura, o autor destas linhas apresentou dois projetos, visando a incrementação da escultura em Guimarães. Um, era um simpósio de escultura em ferro, a decorrer numa empresa local, que reuniria condições para a execução de obras de arte, onde aconteceria a almejada articulação de artistas com técnicos locais.
O outro propunha o convite aos demais países europeus para que se fizessem representar no evento com uma obra escultórica. Obras para serem colocadas em espaços públicos da cidade, donde poderia até advir um “Parque da Europa”.
Ficávamos mais ricos e a custo zero.
Em zero ficou a recetividade dos responsáveis, já que, “fazer parte”, em boa medida, mais não era que ser figurante do Grande desígnio.
Sem dúvida que muito se fez e, a outros níveis, de uma outra forma, a cidade ficou mais rica, atrativa, divulgada e procurada.
E, daquilo que aconteceu, para lá das memórias, coisas há, que perduram e evoluíram no bom sentido. Sobre tudo isso, não me vou referir neste artigo, porque não é esse o meu objetivo, sendo que, certamente, alguém melhor o fará.


O que pretendo, isso sim, é fazer uma panorâmica por aquilo que Guimarães possui de arte pública e quase sem me deter, enumerar esse património, dando, no entanto, ênfase às obras escultóricas. Pretendo também descobrir que obras desse género, aqui, entretanto, foram colocadas depois de 2012.
Assim, começarei por enumerar algum desse património mais antigo, dito de Arte Pública, constante
em Guimarães, para depois me focar, de forma sintética, nos escultores aqui representados e nas suas respetivas obras, finalizando com uma abordagem daquilo que adveio a partir de 2012.


Arte pública do passado
Sendo a Escultura, quando instalada para todos, Arte Pública, a verdade é que outras obras que, não sendo esculturas, fazem parte deste ramo artístico. E isso verifica-se de forma notória nas obras mais antigas da cidade.
Curiosamente, ao contrário de certas obras mais recentes, temos registos de autores de algumas obras mais antigas, como é o caso de certos tanques e fontanários.
Dito isto, vamos então a essas obras seculares.
Assim, temos novamente, no Toural, o Chafariz Renascentista do mestre vimaranense Gonçalo Lopes, do sec. XVI.
Ao lado do edifício da C.M. de Guimarães, temos, desde 2010, a Fonte do Século XVIII.
No Largo Dr. João Mota Prego, encontra-se um tanque do sec. XIX.
A Fonte do Largo da Misericórdia, do mestre Bártolo Fontão, datada de 1820, é outra obra de registo.
Temos também a Fonte da Ramada, ou das Oliveiras, do sec. XIX, na rua da Ramada, que, sendo modesta, possui um interessante brasão cromático.
Tem Guimarães outras fontes e chafarizes, mas que, sendo mais recentes e com menos memória, aqui não são referidos.
Resisto à tentação de falar nos belos cruzeiros que possuímos na cidade, alguns deles inseridos em padrões históricos, mas indo por aí, outras coisas acresciam, tornando extenso o que pretendo contido.

Sem função estética, mas de valor patrimonial assinalável, registe-se o conjunto de “Tanques da Zona de Couros”, que testemunham uma indústria vinda da Idade Média, com apogeu no séc. XIX, onde hoje os olhares encontram valências de fruição.
Da estatuária é de assinalar o “Guimarães/Homem de Duas Caras”, de 1877, que, do cimo da fachada dos Antigos Paços do Concelho, diz da heroicidade dos vimaranenses a quem demanda à Praça da Oliveira. Dignos de registo são também os Santos do Jardim do Largo da República do Brasil, S. Paulo, S. Pedro, S. Tiago e S. Judas, não descurando as figuras presentes nas cinco capelas, outrora sete, dos Passos da Paixão de Cristo, de 1727, espalhados pela cidade.
Finalizo com a obra escultórica possivelmente mais antiga, da qual ninguém sabe ao certo a sua idade, origem e muito menos o autor. Obviamente que falo daquela que dizem ter um falo. O Colosso de Pedralva, encontrado na freguesia que lhe deu o nome em 1876, veio para o jardim da Sociedade Martins Sarmento em 1929, estando desde 1996 no jardim da Alameda Mariano Felgueiras, onde solitário aguarda a vossa visita.
O que aqui e agora digo é como um índice de uma publicação que, quem sabe, poderá sair a lume um dia qualquer, quiçá fazendo parte de um dos próximos números destes cadernos.
Nesta enumeração, temos grandes escultores e outros mais modestos, mas que, com obras em Guimarães, aqui merecem lugar.
Seguirei uma ordem cronológica, começando assim pelos mais antigos, pelo que será uma viagem no tempo. No entanto, advirto para algumas lacunas, motivadas pela falta de elementos sobre algumas obras e autores. Poderá, também, faltar referir uma ou outra obra. Por tudo isto, aceitem as minhas desculpas.
Soares dos Reis (1847-1889) foi o autor da escultura do Afonso Henriques, inaugurada em 1887, imagem emblemática da cidade e do seu Vitória, que ao longo do tempo ocupou três diferentes locais.
Pedro Afonso Pequito, de quem não sabemos as datas do nascimento e morte, aparece-nos no alto da Penha com o seu “Monumento ao Papa Pio IX”, inaugurado em 1893.
Teixeira Lopes (1866-1942) realizou o busto de João Franco, colocado num conjunto concebido por Marques da Silva, do qual resulta o “Monumento a João Franco”, do ano de 1934, e o “Monumento ao Gravador Molarinho”, um baixo-relevo de 1935.
Luís de Pina (1874–1960), fez de um rochedo na Penha, um “Monumento a Gago Coutinho e Sacadura Cabral” inaugurado em 1927.


António de Azevedo (1889 - 1968), é o artista mais representado. Tem duas esculturas, o “Fauno” e a “Ninfa”, inauguradas em 1934; dois bustos, um de Martins Sarmento, de 1933, e outro de Luís de Pina, de 1963, assim como um baixo-relevo com a imagem de Alberto Sampaio inaugurado em 1956.

Álvaro Brée (1903 - 1962) foi o autor da “Estátua de Mumadona”, cuja inauguração decorreu no ano de 1960.
António Duarte (1912 - 1998) está presente na Vila das Taipas com o “busto de Ferreira de Castro”, desde 1971, e a “Estátua da Lei”, integrada na fachada principal do Palácio da Justiça, nos anos sessenta.
Eduardo Tavares (1918- 1991) foi o autor da “Estátua da Vitória” integrada na ”Fonte Centenário da Elevação de Guimarães a Cidade”
Joaquim Correia (1920-2013) foi o autor da Estátua do “Conde de Arnoso”, inaugurada em 1961, e da “Estátua da Justiça, anos sessenta, integrada na fachada principal do Palácio da Justiça.

Irene Vilar (1931-2008) está representada com tês obras a “Escultura dos Pracistas e Viajantes”, anos oitenta?!; o “Monumento aos 500 anos do Teatro Português”, de 2003, e o busto de Abel Salazar, de 1997, colocado sobre uma base da autoria de Filipe Vilas Boas.


Seara de Sá foi o autor do “Busto de Dom Domingos da Silva Gonçalves“ , inaugurado em 1991.
João Cutileriro (1937-2021) foi o autor da Escultura de D. Afonso Henriques, colocada em 2001 no Largo da Misericórdia.
José de Guimarães (1939) tem “O Devorador de Automóveis” de 1991, no Campus de Azurém e o “Monumento ao Nicolino”, de 2007, junto da Igreja dos Santos Passos.
Francisco Simões (1946) é o autor das figuras do “Monumento à Mulher”, 1997.
Ana Jotta (1946) é autora do “Varandim Dourado do Toural” , 2012.
Salgado Almeida (1951) é autor do “Monumento ao Dia de Creixomil, “2001, e do “Monumento ao Desporto/ Euro 2004”, 2004”.
Viana Paredes (1955) fez o “baixo relevo de António de Azevedo” de 2008, a “Escultura de Homenagem ao Bombeiro”, em Guimarães e em Caldas das Taipas, datada de 2015, as Estátuas de S. Francisco e de S. Gualter, em 2017.

Aureliano de Aguiar é autor da “Árvore de Ferro”, datada de 2006.

Paulo Neves (1959) está representado com a “Impressão Digital” e o “Monumento à Liberdade e à Paz” de 2005.
De Augusto Vasconcelos temos os ”Afonsinhos” da Ataca, do ano de 1996, e os “Peixes do Lago Cidade de Kaisaerlautern” por si decorados. Guimarães tem também uma obra denominada “Escultura Cidadede Kaiserlautern” oferecida ao nosso município por essa cidade no ano 2000.
Temos ainda, no Hospital Sra. da Oliveira, uma obra escultórica alusiva à Família, cujo autor como outros mais, não está identificado, e uma obra datada de 1991, que, sendo arte pública, não é escultura, dado ser um painel cerâmico da autoria de Júlio Resende, um dos maiores pintores portugueses do sec XX.
Dentro desta linha, temos, de Victor Costa, as “Cadeiras com cor”, na bancada do estádio Afonso Henriques, composição dominada pela imagem do rei fundador, formada pelo conjunto das cadeiras ali existentes. No exterior, deparamos com uma recente versão do Afonso Henriques, do sec. XIX e um painel com o retrato de Neno, de 2022.
No Parque Desportivo, existe a escultura “O homem de pedra”, colocada aquando da inauguração desse parque e, pela cidade, encontramos, de há uns tempos para cá, algumas “vespas”.
Ainda que comportando linhas convencionais, é de referir que temos na Penha uma escultura alusiva a S. Cristóvão, cravada num penedo, cuja inauguração ocorreu em 1926 e o “Anjo de Portugal” na torre do Santuário. Há também dois bustos de Baden Powell datados de 1996 e 1998, respetivamente.

Em 2012, foi colocado o “Balcão com o poema de Rio de Couros” de Carlos Poças Falcão na Zona de Couros.
Em 2015, a Colegiada da Oliveira inaugurou um medalhão com a imagem do Monsenhor António de A. Costa, da autoria de Jorge Coelho.
Em 2021, foi inaugurado o monumento alusivo à implantação da República.
Finalmente, este ano, Guimarães recebeu uma pequena escultura de Zanzal Mattar, oferecida pela cidade brasileira de Londrina, com quem Guimarães está geminada.

Pelo exposto, podemos aferir que, após 2012, Guimarães, à parte esta oferta, apenas adquiriu obras escultóricas de entidades privadas.

Confesso que o referido Balcão da Zona de Couro e o controverso Varandim dourado, sendo de 2012, fizeram supor que outras obras desta índole, surgiriam na cidade. Mas que tal não sucedeu.
Acontece que, ao longo desta década, decorreram exposições temporárias de obras escultóricas em diferentes locais da cidade, numa intenção de criar dinâmica e novidade.
A partir de 2020, assistimos a uma viragem para a Arte Urbana, com propósito de recuperação urbanística, e aproximação da população à arte.
A talho de foice, é de referir o mural do Bairro da Conceição, de Ágatha Ruiz de La Prava, executado em 2012, sem dúvida obra pioneira nesse tipo de intervenção urbanística.
Arte
pós 2012
Decididamente, querendo ver Arte Pública resultante do “Desiderato de 2012”, teremos de mudar o olhar e não procurar obras perenes mais ou menos convencionais, às quais estávamos habituados.
Toda a gente já deu conta de certas pinturas murais, umas em edifícios ou muros, outras em suportes tridimensionais feitos para o efeito, assim como estruturas que fazem parte da nossa memória, agora temporariamente intervencionadas, instalações que interagem com o passado ou marcam novos rumos, novos tempos. Obras atualmente designadas de “Arte Urbana”.
O que agora temos, digo, acontece, são, pois, “Intervenções Artísticas” com obras temporárias, por

vezes híbridas, que integram variadas linguagens plásticas, novos materiais, novas atitudes, visando dar outras leituras urbanas, no âmbito de um projeto designado “Programa do Bairro C”. Segundo a Câmara Municipal, “O Bairro C é um projeto do Município de Guimarães que pretende reinterpretar o território abrangido pela zona de Couros, Teatro Jordão, Rua da Caldeiroa e Percursos pedonais adjacentes até à Casa da Memória e Centro Internacional das Artes José de Guimarães, consubstanciando discursivamente a implantação de equipamentos criativos, culturais e científicos.”
Assim, entre outros, é possível ver: na Avenida Conde de Margaride, o “Estorninho”, de Kruella d’Enfer; “As Gentes de Couros”, de Nuno Machado, no Parque de Estacionamento de Camões; “Retratos de identidade local”, de André da Lobana, na rua do Montinho; o muro sito entre o Instituto do Design e o Centro de Ciência Viva grafitado por Raw e Contra; e a “Nuvem” de Miguel Trigo e Luís F. Correia, no Jardim da Fraterna.

Outras obras vão surgindo pela cidade, como murais com materiais reciclados, intervenções em passagens pedonais, instalações várias.

É, pois, com esta linha orientada na busca de uma cidade mais atrativa e dialogante com os cidadãos, que a Arte Urbana se revela e acontece nesta Guimarães Pós 2012.

Equipa redatorial Uma exposição de cartoons de SAL refinado
“Nas margens da ficção” é a denominação do novo programa artístico do Centro Internacional de Artes José de Guimarães (CIAJG) que desde março se encontra patente ao público nos seus espaços, reunindo “obsessões” curatoriais de vários artistas, após subsequentes diálogos cruzados entre Marta Mestre, curadora-geral do CIAJG e o curador convidado Ángel Calvo Ulloa.
Ora, o Colosso de Pedralva é de facto o centro dessa iniciativa granítica que os cartoons de J. Salgado Almeida “salgam” refinadamente com SAL q.b.. Com efeito, um imenso mar de cartoons, publicados no Jornal Povo de Guimarães entre 1996 e 2010, enriquecem esta exposição que, através da máquina do tempo, nos transplantam até ao presente crítico e satírico.

De facto, tal como Clio, musa patrona da História, que troca os fios da meada da cronologia histórica, J. Salgado Almeida, de braço dado (o esquerdo) com esta figura de pedra, avança determinado a partir da Alameda Mariano Felgueiras (local onde reside o Pedralva) e “cartooniza-o”, transpondo-o em liberdade criativa para o papel e simbolicamente identificando-o com aqueles que, vindos de fora, aqui ficaram, e se transfiguraram em vimaranenses.
Deste modo, tal como o colosso, SAL, como mediador dos tempos correntes, aponta falicamente o braço direito levantado para aquilo que hoje seria de apontar o dedo, ou seja, para os sinais dos tempos como a especulação urbanística e as injustiças sociais. Coisas e loisas que importa indigitar com a mão levantada ou punho cerrado, denunciando os problemas ambientais, a saúde, os transportes, a educação, a política nas suas diversas vertentes e, claro, algumas “bocas” ao nosso Vitória e recentemente ao Moreirense. Com efeito, não podemos esquecer que Francisco Martins Sarmento trouxe este colosso do Monte de Picos, em Pedralva, freguesia de Braga, pelo que o Pedralva, apesar de

convertido, está sempre pronto a mandar umas “bocas” aos “branquinhos” e afins.
Mas o culpado, queira ele ou não, é o Joaquim Salgado Almeida. De facto, é inegável que foi ele que deu voz ao Colosso de Pedralva, com humor e picardia, por vezes até sarcasmo corrosivo e cáustico, e até o desnudou com formas um pouco mais elegantes e ar menos carrancudo, gritando, como já o fizera antes com D. Afonso, que o rei vai nu.
Titã do passado, que remonta ao período proto-histórico lusitano e retirado ao castro e à mamoa de antanho, ressuscitado por Martins Sarmento, o Colosso de Pedralva, que os cartoons de SAL dão nova vida, revelam-nos assim as monstruosidades dos nossos tempos, enfrentando com ironia a cólera dos “deuses” do poder estabelecido e atual, tal como o fizeram os avoengos Adamastor e os seus irmãos gigantes Encélado, Alcione e Titão, ou como agiu Sísifo, entre muitos outros.
Estes Cartoons são, efetivamente, desafios denunciadores e moralistas, mas também e por vezes, imagens e textos sintéticos perigosos que, ainda hoje, podem conduzir exacerbadamente a castigos por parte do status quo estabelecido.

Assim, enquanto portador dos mitos da atualidade ou do seu desfazer, o Pedralva, pela pena de SAL (texto e traço), reergue-se como um colosso que, como diz o catálogo da exposição, aponta o braço, “atravessado por diferentes temporalidades: o tempo geológico do granito. O tempo histórico da sua criação, a sucessão de olhares e formulações culturais que o impregnam”
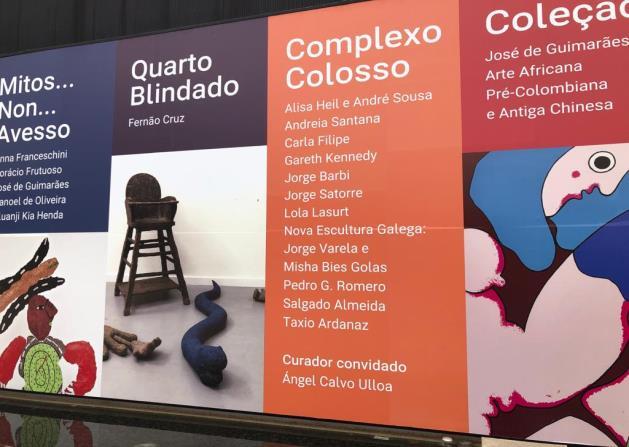
Ora, seguramente, esta recriação do Pedralva em papel, pelo braço de J. Salgado Almeida, assume também, pela sua agudeza e sageza mordaz, uma inexpugnável e granítica postura de desafio aos “deuses” institucionalizados, que é preciso ter sempre debaixo do olho… Papel que tem o papel de, apesar de frágil, consubstanciar a força da pedra…
Uma exposição a visitar, pois os gigantes continuam a ser precisos, assim como os homens do leme que enfrentam todos os mostrengos…
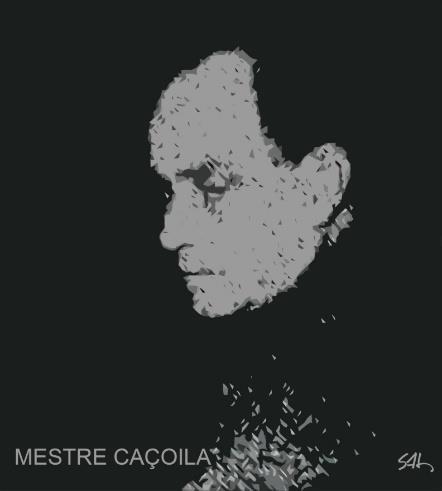 J. Salgado Almeida
J. Salgado Almeida

No meu tempo de menino e moço, como referi no último número desta revista, a dinâmica em Guimarães no referente às artes plásticas, era praticamente inexistente. Aqueles que se formaram em Artes Plásticas, não estavam cá. Como tal, os artistas que então por aqui se encontravam, eram poucos e autodidatas. De entre esses, um havia que, para mim, era diferente. Confesso que, na ocasião, não via na pintura do Mestre Caçoila grande deslumbre. Eram quadros com estranhas perspetivas e um cromatismo de cariz popular. Retratava a cidade quase sempre deserta, com uma pincelada que me parecia tosca e empastada. Em boa verdade, foi em 69, com a ida ao Zip-Zip, que o Mestre ganhou visibilidade. Sem dúvida que, na ocasião, já era reconhecido por alguns. Poucos, porque especialistas. Para o grande público, essa sua ida à televisão, foi a revelação.
Foi a partir daí que vim a saber porque pintava assim, dessa forma que até então pouco me dizia. Deu para ver que tudo aprendeu à sua custa, como a tal perspetiva estranha, que da linear ninguém lhe falou. Deu para perceber a limitação cromática das suas composições, já que era ele que fazia as tintas… fiquei até a conhecer o “verde mata pitos”. As pinceladas eram assim, como quem pisa e tateia o terreno que se vai descobrindo.

E ficamos a conhecer um homem que não acreditava na novidade que então corria, a ida à lua. E isso porque, para ele, ter os pés no chão, só aqui na terra. Na realidade, a sua terra, o seu mundo, era Guimarães e arredores.
E, se nas suas telas, a cidade era feita de velho casario, ruas e ruelas quase oníricas, num vazio silencioso, já as pinturas das redondezas eram coloridas, com musicalidade e cheias de gente. Eram as festas e romarias, era o povo. E foi esse o universo de Mestre Caçoila, que, sentido e pintado a seu modo, lhe deu autenticidade, vindo assim a conquistar admiração e apreço.
Hoje, quem sobe as conhecidas “Escadinhas” depara-se com a denominada Rua Mestre Caçoila, agora reconhecida figura da pintura popular vimaranense. Nasceu o artista no Lugar da Caçoila, na Rua de Vila Verde, lá para as bandas dos Couros, no lugar onde terá existido uma fábrica de curtumes que terá pertencido a seus pais e seus parentes.
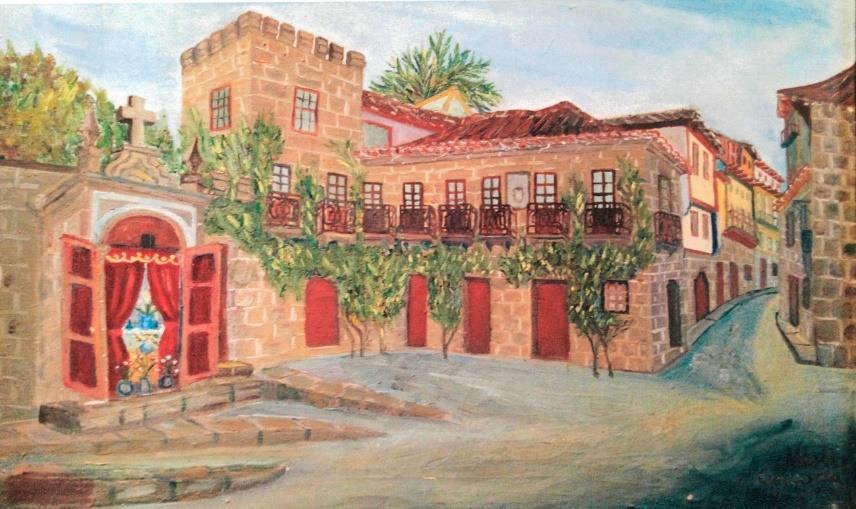
Mestre Caçoila, cujo BI identificaria como Manuel Mendes Pereira, filho de José Mendes Pereira e de Maria da Luz Pereira, nasceu em 28 de outubro de 1900 e faleceu em 12 de fevereiro de 1977, na Rua de Alcobaça, em casa do seu genro Laurentino Ribeiro Teixeira. Legounos, porém, uma vasta obra reconhecida a nível nacional, como o Grande Prémio de Pintura do primeiro Salão de Arte Popular de 1963 permite comprovar. Distinção a que acrescentaria, em 1970, o 1º. Prémio do Salão dos Artistas de Domingo, promovido pela Galeria de Arte Moderna, e as frequentes deslocações à televisão.
De facto, alfaiate de profissão, que se gabava “de ter confecionado um fato sem uma só costura”, assim o apresenta José Maria Gomes Alves, na sua obra “Património Artístico e Cultural de Guimarães”. Mestre Caçoila seria ainda o maior comerciante de ovos da cidade, mas sobretudo “Pintor aos Domingos”. Um homem com forte veia artística, atividade em que, por sinal, sua esposa não acreditava, pela míngua pecuniária que a arte trazia à economia doméstica. Efetivamente, Mestre Caçoila, apesar do êxito do seu trabalho, acabaria por ser frequentemente explorado por falsos mecenas, que se aproveitariam do seu desprendimento atávico por bens materiais.
Porém, como diz o autor citado, Mestre Caçoila “amava a arte e amava Guimarães. Era esta a aposta da sua vida; foi este o segredo do seu êxito. O restante, o complementar indispensável, foi a sua perseverança, o seu engenho, a sua capacidade criadora e o abrir constante do seu coração”. Era homem de hábitos singulares, muitos deles até estranhos! Não via futebol, não assistia a cinema, não se interessava por política, não acreditava nos progressos extraordinários da técnica – manteve-se incrédulo pelo feito dos primeiros

astronautas – mal lia um jornal e, se o fazia, a maioria das vezes era para comentar a secção pela qual tomava conhecimento do passamento de um amigo.
Era um homem excecionalmente bom; oferecia tudo, era altamente suscetível às carências dos que o rodeavam e dava, sem pensar até se viria a precisar.

Era simples, muito simples e humilde, não obstante ser oriundo de uma família muito distinta e bem relacionada.
Possuía um trato especial e sabia cultivar as amizades da sua predileção, os artistas, os colegas, como ele dizia, aqui, sim, com certo orgulho. Entre estes constavam o insigne pintor António Carneiro, o escultor António de Azevedo e muitos outros que, sempre que podiam, o visitavam para o animar.
De facto, Mestre Caçoila passaria por vários problemas de saúde e vicissitudes na vida, inclusive o alcoolismo. Mas, como lutador resiliente ultrapassou-os e voltou à sua paixão pela arte. Montaria então um atelier no Largo do Trovador, apesar da oposição da esposa que lhe gritaria: “homem, deixa os barões, deixa as pinturas, não me atranques o espaço, vai trabalhar”, obviamente na alfaiataria.
No entanto, em detrimento do trabalho na alfaiataria, resistira aos apelos conjugais e consta que só pintava na ausência da mulher e que a sua “marca primitiva” era, então “Pintor aos Domingos”. Como tal chegou a ser menosprezado, em especial antes de aperfeiçoar a sua técnica, tão peculiar e espontânea e ter preparado as próprias tintas e materiais acessórios.
Tintas que dariam aos seus belos quadros de belas cores “outras tantas páginas tão interessantes de Guimarães”, cujo segredo não revelaria.
Aliás, dizia o artista que “o segredo das tintas só o ensinaria a seu neto”, o que de facto viria a acontecer. Com efeito, o pintor Teixeira Caçoila (1947-1989) seguiria as pisadas do avô, pintando aspetos tradicionais do quotidiano vimaranense e executando vários cartazes sobre as Festas da Cidade, às quais estava intrinsecamente ligado como obreiro da Marcha Gualteriana.

Mestre Caçoila, como menciona o citado autor, “possuía o raro dote de amar a arte e de a sentir espontaneamente, não obstante a sua curta gama de meios, mas não só isso, amava também estranhamente a sua Terra e dela se sentia enamorado.”

A obra de Mestre Caçoila continua viva e curiosa, como o atesta a recente exposição efetuada no Centro Internacional de Artes José de Guimarães, na sala 10, uma das últimas três salas ocupada pelo conjunto de exposições intituladas “Objetos Estranhos”.

“EXPO DIABÓLICA” foi o título do concílio diabólico reunido no Museu Alberto Sampaio nos meses de maio e junho, que numa expressão de cultura popular deu à luz, do barro de que todos somos feitos, um acervo (infernal) de peças de cerâmica, muitas das quais desenhadas por Fernando Capela Miguel e modeladas por artesãos barcelenses.

Mais de cindo dezenas de peças demoníacas e figuras endemoniadas que, em maio último, mês em que eles e elas andam à solta, seriam enclausuradas em vitrinas do Museu Alberto Sampaio, saídas ainda quentinhas das chamas infernais e capturadas no imaginário popular nas encruzilhadas da vida, ora apolínea, ora noturna e soturna, que supostamente irão peregrinar por esta região fora.

De facto, como se escreve no catálogo da exposição, citando José Régio e os seus “Poemas de Deus e do Diabo”, é a dualidade que comanda a vida social e antropológica dos seres ditos humanos: “Deus e o Diabo é quem me guiam/Mais ninguém! /Todos tiveram pai …Todos tiveram Mãe! / Mas eu que nunca princípio nem acabo/Nasci do amor que há entre Deus e o Diabo” … Assim, diabos me levem, ele continua tão omnipresente quanto as forças celestiais, entre as coisas vivas ou latentes deste e do outro mundo.
Na língua, porventura, enquanto expressão de um povo, talvez seja até mais badalado pelos sinos lexicais dos toques a rebate. Realmente, o mico, o satã, o tinhoso, o belzebu, o satanás, o demo, o lucifer ou o mafarrico, algumas das suas denominações mais comuns, enquanto príncipe da noite, senhor das trevas e rei do mal, constituem obviamente a outra face da moeda, que nos acompanham desde o nascimento sob os auspícios das fadas ou das bruxas, até à morte e travessia do rio Letes, a bordo das duas barcas simbólicas e alegóricas dos autos vicentinos.
Realmente, creia-se ou não, tudo continua como dantes e, hoje, tal como outrora, só aos parvos é
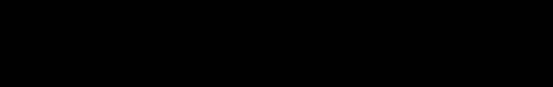
permitido chamar-lhe nomes, sem hipocrisias e dissimulações de toda a sorte:
“Hiu! Hiu! Barca do cornudo Pero Vinagre, beiçudo rachador d’Alverca, huhá!
Sapateiro da Candosa! Antrecosto do carrapato! Hiu!Hiu! Caga no sapato Filho da grande aleivosa!
Tua mulher é tinhosa e há de parir um sapo chantado no guardanapo! Neto da cagarrinhosa! Furta-cebola! Hiu! Hiu! Excomungado das igrejas! Burrela, cornudo sejas! (…)

Perna de cigarra velha, Caganita de coelha, Pelourinho de Pampulha! Mija n’agulha, mija n’agulha!
Mas como os parvos (geralmente) não governam nem se deixam governar, a Exposição Demoníaca mantém diabolicamente a sua pertinência para os restantes, em especial para os governadores, geralmente mais propensos a vender a alma ao diabo!
Quanto à exposição propriamente dita, concilia surpreendentemente a cosmovisão antropológica com a criatividade, quer na conceção dos desenhos originais de F. Capela Miguel, quer na execução de olaria por parte dos artesãos barcelenses, como os irmãos Baraça e os Irmãos Mistério e vários outros como João Ferreira, António Ramalho, Helena Silva. Júlia Côta, Milena de Salsas, Conceição Sapateiro ou a Família Silva.
Com efeito, desde o “Satã com garnisé” que, no mundo ocidental tem como parceiro cúmplice o galo negro, até outras e múltiplas configurações, o diabo assume na exposição (como na mundovisão popular) multifacetadas, identidades e várias árvores de referência onde se instala como a vinha de enforcado.
Deste modo, ele apropria-se da “Árvore da vida”, o diospireiro do fruto de Deus, num confronto entre
a ignorância e a sabedoria; ele trepa e conspurca a frágil e ingénua “Árvore da Paz”, pejada de galinhas parideiras e pombos mensageiros, enquanto símbolos da utopia; ele possessa a “Árvore da Música” e viceja a “Árvore do Vício”; ele planta a “Árvore da Morte” para as tábuas da urna.


Entre outras peças diabólicas, pois seria difícil enumerá-las todas, apareceriam ainda ao concílio os “Diabos Minhotos”, um “Casal de Diabos”, o “Pai do Diabo” e “Os Manos”, e toda uma “Família Diabólica”, numa manifestação de habitual endogamia do Partido do Inferno; assim como excursões de “Diabos de Amarante” e “Diabos de Bragança”, e (pasme-se) até o “Bucha e Estica” em representação da santa comédia! Presentes igualmente “S. Pedro e o Diabo”, e ainda “3 Cabeças Diabitos”, provavelmente em representação da juventude partidária, enquanto futuros pretendentes ao reino dos infernos. Ademais, presentes na EXPO Diabólica, os partidos irmãos de outros infernos como “A Diabrura”, conhecida pela sua língua viperina, desbocada e pretensiosa e a “Mãe dos Povos”, figura diabólica e materna que transporta os povos brancos ao colo, sempre pendurados no mamilo, ao passo que arrasta outros pelo chão infernalmente humilhados, ou dependurados de “pernas para o ar”, buscando dignidade e respeito.

Por sua vez, do “Inferno”, marcariam ainda presença vários “Diabos Músicos” para o infernal arraial da praxe, que seriam recebidos no “Coreto 7” e “Coreto 9” bem como a “Rusga de S. Bartolomeu, que em 24 de Agosto costuma andar à solta. Não faltariam também os conceituados “Los Diabos – Grupo Musical “e “Satã e os Cantores”, que no seu “Pregão do Demo, apregoavam:



“Cantai filhotes cantai

Qu’ele chora a ouvir
Este momento gozai Ca música é pra fruir”.
Na exposição/concílio estaria ainda presente “Diabo Bicéfalo” em representação das novas tendências infernais e até um “Confessionário”, uma vez que “Os Pecados” também não se fizeram rogar e apareceram, em oposição às virtudes que se manifestavam em protesto à porta do museu.
A exposição contaria também com alguns “Animais Diabólicos” como o porco cornudo, que chafurda em qualquer porcaria, o lagarto, como referência a todos os ofídios traiçoeiros, imprevisíveis e venenosos, leões eriçados e ainda “O Galo Eriçado”, do qual assim se fala:
“Conta-se então que no fim de um maléfico dia, já quando a noite se abria e chegou o Diabo ufano e contente para tomar a Alma de muitos, entrando por qualquer um dos buracos do corpo humano. Galhofava contente por ver tanta gente abandonada por Deus e pobres anjos dos céus que não tomou cuidado algum e foi tomando o corpo e a alma uma por uma … eis senão, coisa nunca vista, e ouvida! Foi tamanha a chinfrineira e barulho e barulheira: CÓCOROCÓ … COCOROCÓ… RICORICOCÓ! …
O Diabo tinhoso não sabia onde se meter e por isso desatou a correr sem parar. Foi e voltou com toda a gente a acordar: COCOROCÓ … COCOROCÓ… RICORICOCÓ! ...
Voltou outra vez aquele galo a cantar com tanta força que ficou com as penas levantadas, eriçadas!
O Satã do diabo desatou a fugir sem parar até só chegar ao inferno!
O povo percebeu o que aconteceu e porque se salvou foi agradecer aos céus e ao galo.
Deus premiou o galo com a virtude de ser o primeiro animal a acordar sem medo da noite e assim acordar todos os outros animais.
Eu durmo descansado; quem me acorda é o galo eriçado.”
A exposição, bem como mostras posteriores levadas a cabo, designadamnete na UNAGUI e na Casa do tempo, em Cabeceiras de Basto, contou ainda com um painel de ilustrações de J. Salgado Almeida, que constam do livro “Contos e Lendas do Diabo em Guimarães”, também publicado na altura.
Em síntese, uma exposição inédita de expressão da cultura popular, que teve ensejo a tempo de antena na TV, e que acrescenta ao concelho vimaranense um outro património original e singular (um património diabólico), que, o diabo seja cego, surdo e mudo, também faz parte do nosso quotidiano…
Foi inaugurado no dia 30 de junho deste ano de dois mil e vinte e dois, o Museu do Vitral do Porto, sito na rua de D. Hugo, n. 2 a 6. Junto à Sé da cidade Invicta.
Este museu é a concretização de um sonho do Mestre João Aquino Antunes, nome maior da arte do vitral em Portugal. Falecido em janeiro deste ano, ainda viu o museu concluído e só não assistiu à sua inauguração devido à pandemia que a retardou para final de junho de 2022.

“O Museu do Vitral celebra o trabalho notável criado no Atelier Antunes, o mais antigo de Portugal, reconhecido internacionalmente pelas suas magníficas obras”.
Teresa Almeida, nossa colaboradora, doutorada com investigação na área do vidro artístico e docente na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, está intrinsecamente ligada a este museu, onde se encontra representada com um vitral de sua autoria.

Vitral de Teresa Almeida e vitrais do Mestre João Aquino Antunes.

Teresa Almeida, encontra-se também representada na exposição permanente do Núcleo de Arte Contemporânea do Museu do Vidro da Marinha Grande.

De 21 de maio a 30 de setembro, esteve nesse mesmo museu na coletiva “Da Matéria Persistente”, de que foi curadora.
Em maio, a convite da artista brasileira Viga Bordilho, participou numa sua exposição, no Museu da Arte de Salvador da Baía, Brasil, Nesse mesmo mês, integrou a exposição “ Outros solos # 2” na Cooperativa Árvore, Porto.
No mês de junho foi inaugurada a exposição “A Mulher no Vidro” no MAVA Museu de Arte en Vidrio de Alcorón, Madrid, da qual fez parte.
De 28 de Agosto a 23 de Outubro esteve presente na “BIAVI – Costa Rica 2022”, 1ª Bienal Internacional de Arte em Vidro de Iberoamérica.
Estas são as mais recentes exposições desta artista vimaranense que nos apraz dar a conhecer.


Fazer o elogio da pintura, não tanto enquanto pura imagem, como tantas que nos inundam, cansam e distraem o olhar. Mas como imagem-coisa, corporizada no objecto quadro, dotada de densidade, desafiando a nossa inteligência, despertando os nossos sentidos, convocando os nosso afectos e emoções.
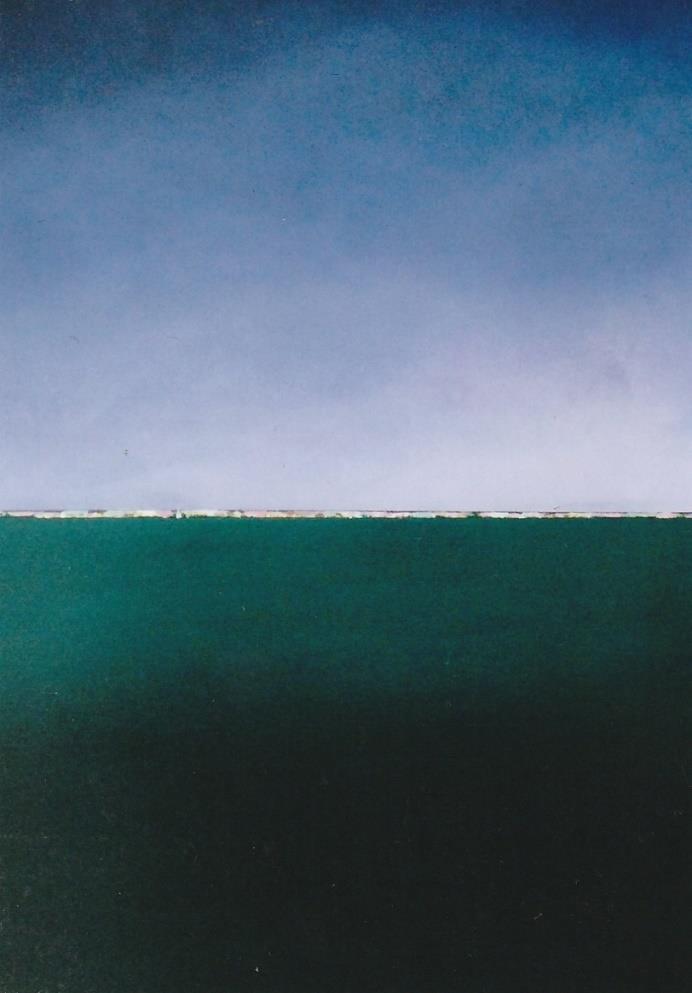

O totalitarismo digital, transforma tudo em nãocoisas, reduz a experiência humana a pura informação. “O mundo torna-se cada vez mais incompreensível e espectral. Nada é firme e palpável”, diz-nos o filósofo Byung-Chul Han. Vivemos imersos em informação, em imagens e textos que se sucedem vertiginosamente, que passam e não ficam, devorando-se uns aos outros. Sem as “coisas do mundo” que, como dizia Hannah Arendt, permitem “estabilizar a nossa vida”, sem essas coisas significantes de que a pintura faz parte, pedindonos que o olhar nelas repouse, interrogando-as e deixando-nos interrogar por elas, a vida esvazia-se de sentido.
Não se trata de negar a arte digital, mas de resistir à submissão de tudo ao reino do algoritmo. E a pintura, a velha pintura que é sempre nova, tem uma palavra a dizer. Ela também nos pode salvar.

A primeira vez que tive contacto direto com a obra de Paula Rego, faz já muitos anos, foi numa grande exposição antológica em Lisboa, creio que no Centro de Arte Moderna da Gulbenkian, em 1988. Até então eu tivera apenas um conhecimento avulso da obra da artista pelo que, ao percorrer os grandes espaços em que se expunham as pinturas, desenhos, gravuras, colagens - de diferentes dimensões, materiais e técnicas, realizadas ao longo de uma carreira já então longa - me senti completamente subjugada. Era a sensação poderosa de que aqueles seres - pessoas e bichos, bichos-gente e gente-bicho - se expunham perante mim para me contarem histórias, sem palavras ou por meias palavras em momentos suspensos da vida. Tão vivos como se ali estivessem e eu ouvisse sussurrar as suas vozes. Ao fim de algumas horas saí sem conseguir dizer nada, porque não havia palavras para exprimir todo aquele turbilhão que girava na minha cabeça. O bilhete de entrada permitia-me ainda visitar uma outra exposição de Piccabia, mas não fui. Não havia lugar para mais nada, queria guardar e prolongar todo aquele emaravilhamento.
Paula Rego nasceu em 1935, em Cascais, numa família de classe média/alta, num Portugal tacanho e sombrio. Seu pai incentivou-a a estudar em Londres, na Slade School of Fine Arts, onde viria a conhecer o seu futuro marido, o pintor Victor Willing (1928 -1988) com quem casou muito cedo e de quem teve três filhos. A relação dos dois artistas foi marcante, com pontos de vista diferentes, por vezes antagónicos sobra a Arte. Sobre isso, Paula afirmava que "ele era o Pintor, ela desenhava bonecos" denotando uma auto-minimização. No entanto, reconhece a importância do conselho que lhe dava para "desenhar, desenhar muito". E Paula Rego é, sem dúvida, uma desenhadora espantosa - um desenho fortíssimo presente não só em toda a sua obra pictórica mas também como forma autónoma em diferentes suportes, materiais e técnicas, de que se destacam as gravuras.
Pintora assumidamente figurativa, conjuga no mesmo plano realidade e sonho, memórias e mitos, romances e contos de fadas de que revela o encanto e o lado sombrio, frequentemente matizados de humor. Mulher de causas, expôs com desassombro a condição feminina, com o sofrimento, a vingança, a perversão presentes no mesmo quadro, em diferentes tempos e personagens, por vezes combinando-se numa mesma personagem. É terrível e inquietante.

Compreendi melhor essa poderosa representação das mulheres anos mais tarde, em 2004 em Serralves. Guardo a memória dos seus enormes trabalhos a pastel seco, particularmente das bailarinas/avestruzes, baseadas no filme Fantasia, de Walt Diney. Eram corpos grossos de mulheres, um pouco atarracadas; corpos doridos dentro de vestidos negros de tule - mulheres cansadas dentro dum sonho não realizado. E os olhares de frente, por vezes de esguelha, desafio a que não podemos fugir; e as estranhas interacções das personagens, a carga sexual implícita ou explícita. Foi também nessa exposição que o poder expressivo do pastel seco se me revelou: usado em trabalhos de grande dimensão com extraordinária mestria, com um tratamento da cor magnífico, que colocam a autora como uma das maiores pastelistas de sempre.
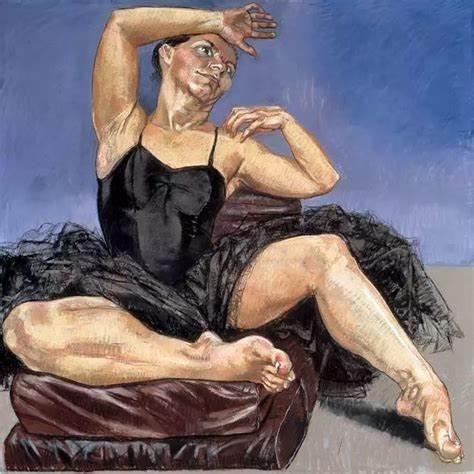
Foi também em Serralves que vi pela última vez, em 2019, uma exposição a ela exclusivamente dedicada, intitulada "O grito da Imaginação". Compunha-se basicamente de obras do acervo do próprio museu e duma excelente colecção de gravuras do Museu Paula Rego/Casa das Histórias, de Cascais - terra natal da artista. E o assombro continuou, como se me confrontasse pela primeira vez com todo aquele imaginário rico

e poderoso, com toda aquela capacidade de enfrentar os medos, os tabus, os papões; toda a coragem de abordar temas polémicos da sociedade, como o aborto ou a violação. É impossível não recordar o grande políptico intitulado "Possessão" - um conjunto de sete pinturas que abordam o tema da histeria, da libertação do corpo feminino sujeita a condenação social; sete quadros que constituem, no seu conjunto, uma narrativa linear.

Paula Rego morreu há pouco tempo, em 8 de Junho de 2022. Uma Obra imensa, uma Mulher imensa, não podem acabar assim... cada vez que revisitarmos a sua obra ela irá renascer, mostrar-nos novas imagens escondidas nas imagens, novas ideias surgirão de surpresa porque não reparamos antes e, como um rio que corre e aumenta o seu caudal, outros virão continuar o seu legado.


 J. Salgado Almeida
J. Salgado Almeida
O Guima andou com o meu pai na Escola Industrial de Guimarães. Era eu miúdo e o Sr. Almeida vendo no seu filho mais velho alma de artista, falava-lhe de alguns artistas que conhecia. Entre eles Adelino Ângelo e o Guima. O nome Guima era uma abreviatura de Guimarães. Mais tarde vim a saber que se chamava António
Ferreira de Oliveira Guimarães.

Conheci, primeiro, o Adelino Ângelo e, mais tarde, o Guima.
Homens diferentes no seu modo de ser e de pintar.
Na obra de ambos, o povo.
O primeiro via nele um pretexto para a produção estética. Guima usava a estética para falar do povo.
Vou ser breve nas palavras, pelo que me remeterei, a partir de agora, a uma breve homenagem ao pintor neo-realista de Guimarães que acabou de nos deixar ao cabo de noventa e três anos de vida.
Vi a sua pintura pela primeira vez na Associação Convívio. Era eu um adolescente.
Marcou-me o figurativo formalmente simplificado e a força cromática da paleta. Síntese e expressão numa conjugação perfeita.
Mais tarde, tive o prazer de conversar com ele numa outra exposição, desta feita na Sociedade Martins Sarmento.
Já estava praticamente cego e via, apenas, manchas monocromáticas…
Perguntei-lhe, então, como conseguia pintar.
Disse-me que tinha tudo na cabeça e que perante a tela branca, lançava pinceladas cromáticas.
As cores eram-lhe fornecidas pelo neto de acordo com a sua pretensão.
- Dá-me o violeta…agora o laranja…
E a obra nascia à semelhança do que sucedeu com Beethoven quando ficou surdo.
Ambos sabiam o que faziam. As harmonias já estavam nas suas cabeças. Não acontecia procura, apenas transposição.
Nesta última fase do nosso pintor, a figuração deu lugar a formas amplas que povoavam as telas num jogo cromático magnífico. Movimento e musicalidade que perdura para fruição de todos nós.
A Câmara Municipal possui algumas obras deste mestre, guardadas no seu espólio.
Proponho que venham à luz do dia.
Decididamente 2022 é ano de perdas… muitas, mesmo. E no caso das artes plásticas ficamos mais pobres. Depois de Paula Rego, portuguesa universal, foi o nosso Guima, para agora ser a vez da vimaranense “Ny Machado”. De seu nome Esmeralda da Cunha Machado de Castro Oliveira, a artista natural da Costa, deixounos aos setenta e sete anos. Foi professora e depois pintora. Deixou-nos também uma obra plástica dedicada à mulher.


Sendo notória a influência cubista nos seus trabalhos de carácter figurativo, verificava-se nos seus últimos trabalhos uma simplificação na busca de uma expressão mais fluida e poética. São as “mulheres de vermelho”. Mulheres que sempre povoaram as suas pinturas de cores vivas e alegres. Das suas mulheres diz a artista:” As minhas mulheres de vermelho trazem no coração a força de abril”.
Até sempre, amiga pintora.
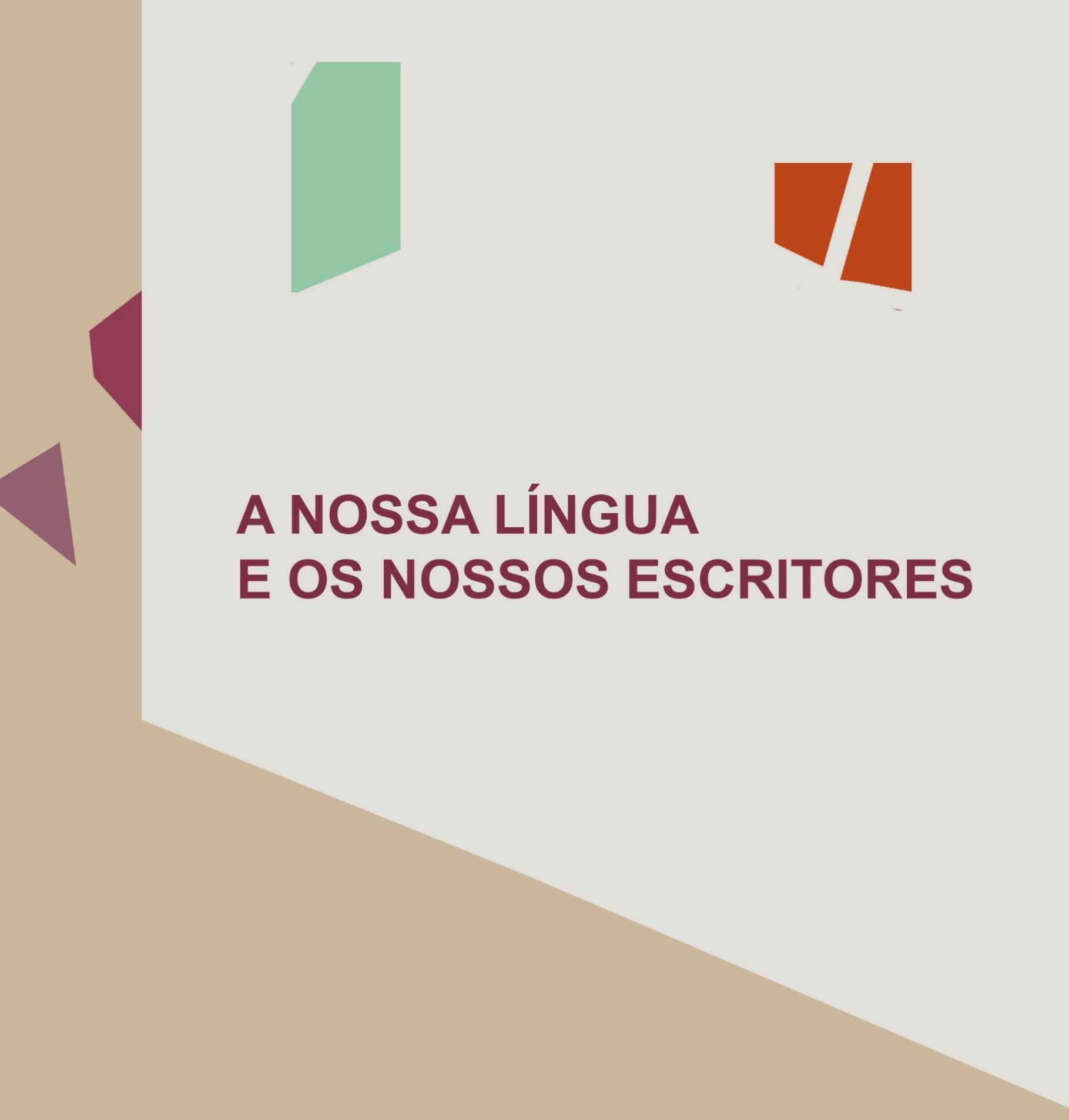
A nossa língua e os nossos escritores
A nossa língua e os nossos escritores, rubrica habitual em OsmusikéCadernos, é este ano bafejada por três centenários. Com efeito, em 2022, passam 100 anos do nascimento dos escritores portugueses Augustina Bessa-Luís e José Saramago, bem como do poeta moçambicano José Craveirinha. Ademais, passam 450 anos da publicação d’ Os Lusíadas e 4 séculos do nascimento de Torcato Peixoto de Azevedo, autor das “Memórias Ressuscitadas da Antiga Guimarães”, efemérides às quais se ajunta ainda os 70 anos da morte de Teixeira de Pascoaes.
Evocar estes nomes e obras, convidando à sua (re)leitura, é, pois, o nosso propósito.

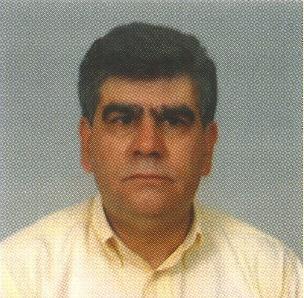
As evocações são sempre situações que trazem à lembrança e ao campo da consciência algumas imagens retidas impressivamente. Por vezes, como é o caso, recordam-nos episódios curiosos, como este ocorrido na Primavera de 2004, em Guimarães, se bem me lembro na Biblioteca Raul Brandão, que vem a propósito da abordagem do centenário do nascimento de José Saramago nas páginas seguintes desta rubrica.

De facto, à laia de preambular, conto esta estória real, ocorrida aquando das apresentação da obra saramaguiana “Ensaio sobre a Lucidez”, pois de lucidez se trata a troca de opiniões entre s dois protagonistas: José Saramago e Emídio Guerreiro.
Passo a relatar:
E, como não podia deixar de ser, Saramago abriu o livro para um questionar desafiador se isto em que vivemos é realmente uma democracia ou se os rituais eleitorais não seriam apenas a possibilidade de poder tirar um governo e pôr outro, aspeto que acharia insuficiente.
Com efeito, explicaria que não podemos modificar a composição dos senhores que dirigem a Organização Mundial do Comércio, ou do FMI, que é gerido por cinco pessoas designadas por cinco potências. Neste contexto, acrescentaria que os governos se convertem nos comissários políticos do poder económico, mesmo os mais democráticos.
Entrementes, polémico como sempre, abordaria ainda o voto branco que na sua perspetiva poderia tomar uma dimensão que obrigaria os políticos, os partidos e todos nós cidadãos, a reconsiderar tudo isto a que chamamos sistema democrático.
Ora, a esta lucidez saramaguiana erguer-se-ia uma voz e outra lógica. De facto, a esta lucidez de Saramago, pronunciar-se-ia Emídio Guerreiro, que na lucidez dos seus 100 anos assistia lucidamente à sessão e rebateria a ideia do voto branco aventado pelo nosso Nobel. Com efeito, Guerreiro defenderia que a demissão e o alheamento dos eleitores no momento de escolher os governantes abriria espaço ao aparecimento de ditadores. Como tal, afirmaria que a obra de Saramago apresentaria uma “fantasmagoria formidável”, pois na realidade os votos brancos são fantasmas.
No entanto, Guerreiro concordaria que o mundo está em crise, ainda que continue a acreditar que o homem é uma espécie racional que vai resolver esses problemas.
No fundo, dois confrontos e duas vias de lucidez ensaiadas neste “Ensaio sobre a Lucidez”, numa altura em que a sociedade e a civilização humana parecem cada vez menos lúcidas …
De facto, a escritora Agustina Bessa-Luís faleceu em 3 de junho de 2019, com 96 anos, ainda criança. E a obra infantojuvenil “Dentes de Rato” é provavelmente a prova escrita dessa vivência da criança adulta.

Realmente, “Dentes de Rato” (1987) é uma quase-autobiografia em duas partes: a primeira relativa à infância; a segunda, que se intitularia “Vento, Areia e Amoras Bravas” (1990), referente aos tempos de juventude. Infância que a escritora vivenciaria em Vila Meã, Amarante, local onde nasceu em 15 de outubro de 1922, conquanto a juventude seria vivida no Porto e na Póvoa de Varzim, no Colégio das Doroteias. Por isso, a região de entre -Douro-e-Minho seria de facto o espaço essencial da sua vida. Aliás, seria em Godim, no Douro, onde escreveria o primeiro romance (não publicado), com apenas 16 anos de idade, que marcaria o início de uma longa produção literária:
“O infinito cabe num dedal de terra; as mais belas histórias são articuladas na dimensão da infância, quando tudo parece imenso e é pequeno”.
Com efeito, Lourença, a protagonista de “Dentes de Rato”, é provavelmente (um pouco) a imagem da autora, enquanto criança nascida adulta, na qual se revê a rapariga imaginativa e criativa, que sonhava acordada:
“O que mais gostava de fazer era comer maçãs e deitar-se para dormir. Mas não dormia. Fechava os olhos e acontecia-lhe então uma aventura bonita, e conhecia gente maravilhosa, pois a cama transformava-se numa jangada e navegava pelos sete mares, ou era palco de inúmeras cenas em que os travesseiros eram personagens cheias de carácter”.

Ora, “Dentes de Rato”, porque “os dentes dela eram pequenos e finos, e pela mania que ela tinha de morder a fruta que estava na fruteira e deixar lá os dentes marcados”, é com efeito a matriz fundamental da sua obra infantojuvenil, pois Agustina, como (quase) todos os grandes escritores, morreria criança.
Mas é igualmente uma marca da rebeldia e do carácter da autora, que Lourença protagoniza, mesmo nos ambientes mais íntimos e familiares. Com efeito, e apesar de gostar muito dos seus três irmãos, Lourença não tinha com eles uma relação de proximidade: “Lourença tinha três irmãos. Todos aprendiam a fazer habilidades como cãezinhos, e tocavam guitarra ou dançavam em pontas dos pés. Ela não. Era um bocado infeliz para aprender, e admirava-se de que lhe quisessem ensinar tantas coisas aborrecidas e que ela tinha de esquecer o mais depressa possível”.
Realmente, a sua sabedoria ensinou-lhe que “ninguém ensina tão bem como a necessidade; aquilo que aprendemos antes do tempo não se aprende verdadeiramente, só se acumula na cabeça “e, portanto, seria desnecessário, porque “o coração não toma parte”.

Lourença é de facto uma criança diferente na vida familiar e na escola, que desde muito cedo aprendeu a refugiar-se no íntimo da sua imaginação e a viajar pelas sensações como “o cheiro a canela em cima do creme quente, o cheiro da cera no chão e da água em que misturou o sabonete”.
Mas, em “Dentes de Rato”, há também a abordagem sobre o papel da mulher na sociedade, o amor pelo Norte e a ligação à natureza, que Lourença protagoniza até aos nove anos de idade. Vida que tem continuidade e se prolonga ficcionalmente em “Vento, Areia e Amoras Bravas”, que retrata o ambiente familiar protagonizado por esta personalidade forte, engraçada e vigorosa de Lourença, na sua alegria e imaginação da pré-adolescência à juventude, tendo por temas centrais os amores, as amizades e os conflitos e consensos próprios da idade.
Contudo, Maria Agustina Ferreira Teixeira Bessa (1922-2019), assim é o seu nome de batismo, mais do que propiamente pela sua produção literária infantojuvenil, ficaria sobretudo conhecida pelos seus romances e novelas. De facto, data de 1948 a publicação, em Coimbra, do seu primeiro livro, a novela “Mundo Fechado”. Dois anos mais tarde, surge “Os Super-Homens”, publicado no Porto, que desencadearia uma polémica com Jaime Brasil.
Porém, seria no ano de 1953, aos 31 anos, que ocorreria a consagração de Agustina com a saída do prelo do romance “A Sibila”, distinguido com o Prémio Delfim Guimarães e Prémio Eça de Queirós. Uma obra que Óscar Lopes considera “um romance de figuras femininas dominadoras” e José Régio
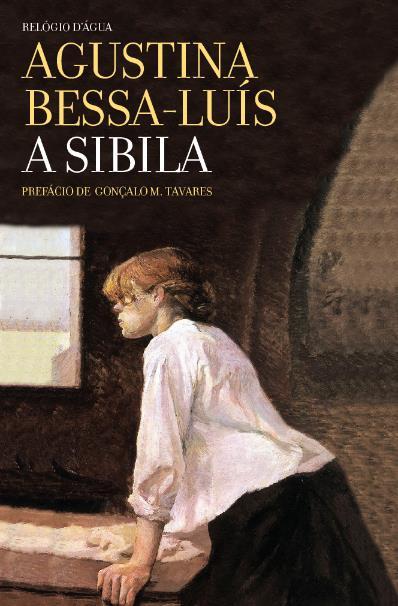
“

um dos nossos romances simultaneamente mais regionalistas e universalista (…) e um romance intemporal”.
Um romance que se inicia e termina no mesmo local e as mesmas personagens, cujo desfecho ambiguamente é aberto e/ou fechado: “Eis Germa, eis a sua vez agora e o tempo de traduzir a voz de uma sibila. Talvez, porém, o seu tempo seja improdutivo e nefasto, e ela fique de facto silenciosa, porque – quem é ela para ser um pouco mais do que Quina e esperar que os tempos sejam mais aptos a esclarecer o homem e trazer-lhe a solução de si próprio? Talvez ela fique de facto imóvel no seu constante, lento ou vertiginoso baloiçar, na casa que fortuitamente habita, e a sua história fique hermeticamente fechada no círculo de aspirações que não conseguiu detalhar e cumprir, porque aconteceu ser cedo ou ser tarde, porque não se compreende ou não se crê o bastante, porque se deseja demasiado e isto é todo o destino, porque … porque …”
Só a leitura esclarecerá sobre outras eventuais respostas causais…
Como é óbvio, a partir de Sibila, a intensificação do convívio literário com vários escritores como Eugénio de Andrade, Sophia, Jorge de Sena e Régio, entre outros, Agustina trilharia uma marcha imparável de produção literária, intervalada com algumas viagens pela Europa, algumas delas como representante de Portugal nos périplos internacionais. Datam, assim, da década títulos como “Contos Impopulares”, os romances “Os Incuráveis”, “A Muralha” e “O Susto” produção narrativa que prossegue afincadamente nos anos 60 com muitas outras obras, nomeadamente “Canção diante de uma porta fechada” (Prémio Ricardo Malheiros da Academia das Ciências de Lisboa, “Homens e Mulheres” (Prémio Nacional de Novelística) e o volume de contos “A Brusca”.
Paralelamente, Agustina passa a participar também em simpósios internacionais, com no III Encontro Mundial de Mulheres Jornalistas Escritoras em 1973, em Israel, e no “Congresso Internazionale sul tema del post-communismo”, em Roma, em 1975. E fecharia com chave de oiro a década, com a publicação do romance “As Fúrias” (Prémio Ricardo Malheiros), que seria adaptado a teatro por Filipe La Féria, bem como com a homenagem comemorativa dos trinta anos de atividade literária e a publicação do romance “Fanny Owen”.
Assim, quase sem parar, a produção literária prolongar-se-ia posteriormente com o romance “O Mosteiro, em 1980, (Prémio D. Dinis da Fundação Casa Mateus), a que se seguiriam várias outras distinções, prémios e obras como “Meninos de Oiro” e “A Memória de Giz”, livro acerca de crianças, “A Quinta Essência”, e “A corte do Norte”, entre muitos outros.
Contudo, a autora escreveria também alguns contos. Aludem-se, por exemplo, os “Contos Amarantinos”, a que se acrescentam ainda esporádicas incursões diversificadas pelo ensaio (“Camilo e as circunstâncias”), memórias e biografias (“Santo António” e “Florbela Espanca”), e a autobiografia (“O Livro de
Agustina”). Uma vasta e variada produção, que passaria também pela dramaturgia em títulos como “O Inseparável ou Amigo por Testamento”, “Estados Eróticos de Sören Kierkegaard”, “A Bela Portuguesa”, ou “Garrett: O Eremita do Chiado”, entre outras. Arte de Talma que a levaria ainda a assumir também o cargo de diretora do Teatro Nacional D. Maria II, entre os anos 90/93.
Ademais, Agustina seria também assídua colaboradora de diversas revistas e jornais, entre os quais o “Primeiro de Janeiro”, diário portuense do qual foi diretora em 1986/1987. Curiosamente, teria sido este periódico que lhe tinha aberto as portas ao casamento em 1945, através de um anúncio e, no ano seguinte, ao nascimento da filha Laura Mónica.
De facto, o seu matrimónio com o advogado Alberto de Oliveira Luís, seria consumado através dum anúncio, publicado no Primeiro de Janeiro, do seguinte teor: “Jovem instruída procura correspondência com pessoa inteligente e culta”.
Entretanto, no âmbito dos media exerceria ainda funções como membro da Alta Autoridade para a Comunicação Social.
Agustina seria, ainda, distinguida com diversas condecorações em Portugal e França, bem como inúmeros prémios, salientando-se, além dos citados, o prestigiado Prémio Camões (2004). Distinções às quais acrescentaria a “Ordem de Santiago de Espada” (1988) e a “Medalha de Honra da Cidade do Porto” (1989).

Além disso, para além do seu prestígio e genialidade, que se consumaria na tradução da sua obra em oito idiomas diferentes, a obra da escritora seria ainda alvo de adaptação cinematográfica. São o caso de “A Corte do Norte”, com realização de João Botelho, bem como várias adaptações a cinema, por Manoel de Oliveira, entre as quais “Vale Abraão”, escrita propositadamente para o efeito, “Fanny Owen” (“Francisca”), ou “Terras de Risco” (“O Convento”), entre outras.
Escritora multifacetada, “Agustina Bessa Luís, no que respeita especificamente ao romance, resolve, mais do que nenhum outro romancista português do nosso século, a velha e fácil oposição Camilo-Eça”, escreve Álvaro Manuel Machado. Porém, também não ficou indiferente ao neorrealismo, pois “A Sibila (…) é um texto tipicamente modelado dentro do quadro neorrealista”, na qual são ainda claramente notórias as influências de Raul Brandão, em especial “Húmus”, Camilo Castelo Branco, em particular a novela camiliana “Maria Moisés”, e Teixeira Pascoaes.
Com efeito, “A Sibila”, obra distinguida com os prémios Delfim Guimarães e Eça de Queirós, consagraria Agustina. Uma obra que harmoniza de modo original a evocação do mundo rural e a análise universalista das paixões humanas, que tem como protagonista Quina, despoletada pela evocação da sobrinha Germa, sua herdeira espiritual.
Mas, acima de tudo, uma obra de defesa do “paraíso perdido” da civilização e aristocracia rural em relação à burguesia citadina, cuja crítica como se depreende desta passagem de cariz judicativo, visará, em sentido mais profundo, o próprio poder político, que deixa ao abandono os meios campesinos: “Seu tio José, nascido na casa do Freixo, mas que adquirira, mercê de muitos favores da fortuna, a propriedade de Folgozinho (…) veio em Setembro com as filhas. Viviam no Porto, e as suas escapadas à província eram pouco frequentes (…). Eram quatro raparigas (…). Frequentaram muito a casa da Vessada, durante essa época (…). Quina recebia-as com uma deslumbrada frieza, via-as corricar com um farfalhar de foulard, apanhando a saia para descer o degrau da cozinha (…). Eram faceiras, gárrulas, cheias desses encantos fúteis, inocentes, que se desenvolvem com o bem-estar e a fortuna. Quina invejou-as muito. E, como elas vinham tomadas dessa adoração romântica pelo campo, a curiosidade do rústico, a pretensão dos simples, cheias desse entusiasmo de burguesa (… recrutavam toda a gente, exigiam, empeciam, nas cortes, as turinas, brindando com guloseimas os esfraldicados garotos do lugar (…)”.
Germa, porém, pela sua educação citadina e equilibrada e valores campesinos parece, todavia, encarnar as possibilidades de conciliação e fusão desses dois mundos, em alternativa ao fim da civilização rural.
Em súmula, uma escritora ímpar da nossa língua, de genialidade serena e elegante, de obra intemporal e imortal, que o documento - autógrafo “Para Vila- Meã”, datado e assinado de 30 de dezembro de 2002, explicita claramente quanto à sua cosmovisão, que tem como ponto de partida a terra duriense e o regresso às origens através da infância, enquanto espaço mítico e cosmogónico: “Felizes os que chegam a uma idade longa com as recordações dos primeiros anos. Porque nada melhor que a companhia dessas memórias douradas para nos fazer acreditar na imortalidade. Somos imortais pelo que recordamos e não pelo que vivemos.
Esta terra onde nasci é o melhor caminho para as minhas recordações. Daqui se parte para o lugar do Barral onde teve casa a minha família materna com cinco filhas, sendo uma delas Justina, minha avó, de que bastante falei nos meus livros. Do lugar do Barral à casa do Paço era mau caminho, entre campos de milho, e ribanceiras, onde, no Verão, havia cachos de amoras. O lugar do Paço foi uma escola mais importante do que a das letras. A gente que lá vivia despertou em mim a expectativa pelo extraordinário. Eu ouvia as histórias como se fossem retratos do mundo, ainda por descobrir e, naquele trono que era o preguiceiro, minhas tias falavam dos sete pecados mortais como se fossem gente viva e pronta a bater à porta. Não falavam com horror ou consentimento. Eu aprendi assim que não há senão fraquezas e pactos melancólicos com a tentação. Para ver que há beleza no mundo bastava descer até ao tanque, quem vai para a eira, e reparar que nasciam as primeiras tulipas. Bastava ver as ovelhas com os balidos mansos, ao entardecer, ou ver o leite acabado de mungir, tão branco e espumoso como uma bebida espirituosa. Tudo isso me fez escritora, tudo me caiu no coração como um sino de prata que não para de tinir como se o vento o bulisse.

Vila-Meã em dia de feira, com os ourives, os vendedores de leitões que de tão cor-de-rosa pareciam pintados, era para mim uma peregrinação, com a minha tia adiante, segurando o guarda-sol preto e com aquele sorriso que lhe descobria um dente desacertado. Ela gostava de falar, falava sem parar ao sol de Agosto como se estivesse no parque mais fresco, no bosque de Viena pelo menos. Agora estou a parecerme com ela, sou capaz de tomar o rumo duma conversa e não a largar horas a fio. É extraordinário como temos em nós tantas heranças (…) Nasci, como sabem, numa casa aqui perto. Nasci num domingo, o que é bom presságio. Nos países nórdicos quem nasce ao domingo será capaz de prever o futuro. Não me agrada ter esse dom, porque adivinhar não é saber; sobretudo, perde-se a fantasia da curiosidade e da teia romanesca que é matéria do escritor. A Sibila, essa sim. Gostava de ser adivinha. Brincava a prever as coisas, raramente se enganava (…)
Eu sinto grande vaidade na honra que me fazem hoje. Vaidade porque de algum modo a merecia; mas não tanto que me esqueça de devolver à minha terra o que a minha terra me deu – a realidade de que se alimenta a imaginação. (…)”.

Filha de uma família de raízes rurais de entre-o -Douro-e-Minho e família espanhola de Zamora, por parte materna, Agustina viveria assim entre as recordações da sua terra e gentes, que genuinamente capta para a sua vasta obra de cerca de 60 volumes. “A Sibila” é obviamente a matriz dessa imanência regionalista que busca e consegue o universalismo, bem patente em temas como o êxodo dos campos, a oposição cidadecampo e a influência do mito sobre o homem.
Neste ano de centenário, (re)ler Agustina é um desafio aliciante…
José João Craveirinha (1922-2003), jornalista e poeta, quiçá o maior dos vates moçambicanos, nasceu em 1922, nos subúrbios de Maputo.

Perfazem-se, portanto, 100 anos do nascimento deste filho de mãe ronga e pai algarvio de Aljezur, que daria os primeiros passos no bairro de Mafalala e aprenderia as primeiras letras na escola “Primeiro de Janeiro”, pertencente à maçonaria.
Um ser humano negro na pele, no cantar e na forma, cujas origens encontra obsessivamente na mãe negra e nos antepassados mais remotos em que ela entronca a sua identidade, numa espécie de retorno ao ventre materno,
idiossincrasia que vai plenamente de encontro aos valores matriarcais, tão presentes nas sociedades africanas. Descendência que, porém, não renega as origens paternas, que, despojadas de quaisquer traços coloniais, são resgatadas no poema “Ao meu pai”, como numa canção de alforria:
“Velho colono morto numa cama de hospital Tão pobre como desembarcaste no cais de África Meu belo pai ex-português.”
Mas, ele próprio, conta-nos alguns desses passos marcantes:
“Nasci a primeira vez em 28 de Maio. Isto um domingo. Chamaram-me Sontinho, diminutivo de Sonto. Isto por parte da minha mãe, claro. Por parte de meu pai, fiquei José. Aonde? Na Av. Do Zihlahia, entre o Alto Maé e com quem vai para Xipamanine. Bairros que quem? Bairro dos pobres.
Nasci a segunda vez quando me fizeram descobrir que era mulato.
A seguir, fui nascendo à medida das circunstâncias impostas pelos outros. Quando o meu pai foi de vez, tive outro pai, seu irmão
E a partir de cada nascimento, eu tinha a felicidade de ver um problema menos e um dilema a mais. Por isso, muito cedo, a terra natal em termos de Pátria e de opção. Quando a minha mãe foi de vez, outra mãe: Moçambique.
A opção por causa de meu pai branco e da minha mãe preta.
Nasci ainda outra vez no jornal “Brado Africano. No mesmo em que também nasceram Rui Noronha e Noémia de Sousa.
Muito desporto marcou-me o corpo e o espírito. Esforço, competição, vitória e derrota, sacrifício até à exaustão. Temperado por tudo isso.
Talvez por causa do meu pai, mais agnóstico que ateu. Talvez por causa do meu pai, encontrando no Amor a sublimação de tudo. Mesmo a Pátria. Ou antes principalmente a Pátria. Por parte da minha mãe só resignação.
Uma luta incessante comigo próprio. Autodidata. Minha grande aventura ser pai. Depois, eu casado. Mas casado quando quis. E como quis.
Escrever poemas, o meu refúgio, o meu País também. Uma necessidade angustiosa e urgente de ser cidadão desse País, muitas vezes, altas horas da noite”.
De facto, Craveirinha (re)nasceria várias vezes, alimentado pelo húmus de Mafalala, o seu Harlem de poeta e centro inspirador das reivindicações pela dignidade africana. Renascimento Negro que teria vozes (mais propriamente brados ou gritos), em “O Brado Africano”, na segunda metade da década de 50, um dos jornais mais marcantes na divulgação da poesia e causa moçambicana, perante o sistema opressivo do poder

colonialista e salazarista que, mais tarde, nos anos de 1964-1968, conduziria Craveirinha à prisão política, tendo como companheiros Malangatana, Luís Honwana e Rui Nogar.
O poema “Grito Negro”, como um sonante brado africano, é bem elucidativo do sonho de libertação perante a exploração do homem negro:
“Eu sou carvão
E tu arrancas-me brutalmente do chão e fazes-me tua mina, patrão. Eu sou carvão!
E tu acendes-me, patrão, para te servir eternamente como força motriz mas eternamente não, patrão. (…) Eu sou carvão, Tenho que arder Queimar tudo com o fogo da minha combustão Sim! Eu sou o teu carvão, patrão.”
A poesia seria assim a arma de combate e libertação, para além da luta armada conduzida pela Frelimo, que tem na negritude o seu traço predominante. Um caminho partilhado com Noémia de Sousa, sua companheira e musa inspiradora, também ela poetisa da moçambiquidade. Uma poesia que procura essencialmente a identidade e a nacionalidade, assente na valorização do homem negro e nos seus valores culturais, como o poema “Manifesto” dilucida claramente:
“Meus belos curtos cabelos crespos, E os meus olhos negros como insurreto, Grandes luas de pasmos na noite mais bela Das mais belas noites inesquecíveis de Zambeze.
Oh! meus belos dentes brancos de marfim espoliado Puros brilhando na minha negra reincarnada face altiva E no ventre maternal dos campos de indisfrutada colheita De milho O cálido encantamento selvagem da minha pele tropical. (…)
Como pássaros desconfiados

Incorruptos voando com estrelas nas asas, meus olhos

Enormes de pesadelo e fantasmas estranhos motorizados
E as minhas maravilhosas mãos escuras do cosmos
Nostálgicas de novos ritos de iniciação
Duras de velhas rotas das canoas de tribos E bela como carvões de micais
Na noite de quizumbas E minha boca de lábios túmidos Cheios de bela virilidade impia de negro Mordendo a nudez lúbrica do pão secundário Ao som da orgia dos insectos urbanos Apodrecendo na manha nova Cantando cega-rega inútil de cigarras obesas”
Evidente, no poema, a resiliência na recuperação das tradições silenciadas, a reconquistar através do sonho poético, entendido como estratégia de resistência cultural e entidade propulsora da imaginação criadora, capaz de rasgar novos desígnios. Com efeito, percebe-se claramente nesta passagem a evocação dos antepassados bantus e africanos, perante o pesadelo do presente da “orgia dos insectos urbanos”, colonizadores, que sugam o sangue negro.
De facto, neste poema, inserido em “Xibugo”, editado inicialmente pela Casa dos Estudantes do Império, em Lisboa, toda a imagística é de um ritual da tradição moçambicana, personificada em versos: “a noite desflorada/abre o sexo ao orgasmo do tambor/ e a planície arde em todas as luas cheias/no feitiço viril da insuperstição das catanas”. Versos que, obviamente, remetem para um erotismo impulsionador da vida, que os moçambicanos desejam retomar. Vida, ainda, assente numa conceção animista, que o sujeito poético recupera pela memória e/ou pelo sonho: “e as vozes rasgam o silêncio da terra/enquanto os pés batem/enquanto os tambores batem/e enquanto a planície vibra os ecos milenários/aqui outra vez os homens desta terra/dançam os danças do tempo da guerra”.
Com efeito, chegara a hora dos moçambicanos negarem as imposições colonizadoras e reviver a sua cultura, despertando e gritando: “Minha mãe África/meu irmão Zambeze/Culucumba! Culucumba!”. Um acordar a tomar pela via armada e/ou a guerra das armas ideológicas, geralmente pintadas em tons rubros: “brilham alucinados de vermelho/os olhos dos homens”, e/ ou, “os músculos tensos na azagaia rubra”. Luta em sonho e de herói épico, “Ah! Outra vez eu chefe zulo/eu azagais banto”, ritualizada nos tempos ancestrais:” eu Zichacha na confidência dos ossinhos mágicos do tintiholo”. Curiosamente, um ritual também
retratado pelo pintor moçambicano Malangatana Valente na tela intitulada “A Cena da Adivinha” (1961).
Acrescente-se, porém, que esta luta moçambicana é apenas uma parte do todo da emancipação africana. Com efeito, ela visa anular as diferentes culturas e etnias, abrangendo a coletividade em detrimento da singularidade, como é visível nos seguintes versos: “Mâe África, no meu rosto escuro de diamante”, ou “e minha voz estentória de homem do Tanganhica/do Congo. Angola, Moçambique e Senegal.”. Mas também e sobretudo denunciar as condições de subalternidade dos negros, como é notório nesta passagem do poema “Ninguém”, da obra “Karingana ua Karingana”: “Andaimes
Até ao décimo andar (…)

E um transeunte curioso que pergunta Já caiu alguém dos andaimes? (…)
E a tranquila respostado senhor empreiteiro Ninguém. Só dois pretos.” Assim, por estas e por outas, Craveirinha encontra-se imortalizado entre os moçambicanos e na literatura de expressão portuguesa, como um dos que da “lei da morte se vão libertando”. De facto, o poeta seria, em 1991, galardoado com o Prémio Camões, entre várias outras distinções recebidas, quer em Moçambique, quer a nível nacional e internacional, designadamente a comenda da Ordem do Infante D. Henrique atribuída por Portugal, na presidência de Jorge Sampaio. Efetivamente, Craveirinha cultivou a língua portuguesa com mestria, quer no jornalismo exercido em vários periódicos moçambicanos, quer especialmente na poesia, facto a que porventura não teria sido alheio seu pai português, que lhe daria a ler Gil Vicente, Garrett, Antero, Eça, Ramalho Ortigão e Guerra Junqueiro, entre outros, em especial os neorrealistas portugueses. Nomes que, conjuntamente com as leituras de Vítor Hugo, Zola e Dostoievski, lhe facultariam substrato para superar a falta de educação formal, a nível secundário. Bagagem literária e linguística que é (ainda) enriquecida com o recurso a vocábulos oriundos das línguas africanas, que são um outro traço da negritude.
Negritude que também assiduamente é paisagem humana e física: “o mundo naquela noite/era apenas um seio branco; o côncavo seio azul-marinho da baía de Pemba; salgados seios eróticos do mar”. Deste modo, autodidata por formação, a escrita de Craveirinha assume-se como bissetriz de duas condicionantes e matrizes fundamentais de miscigenação: do espaço de aculturação herdado da língua e do caudal tradicional da cultura moçambicana e africana, enquanto e suporte temático e marca essencial de uma literatura visceralmente moçambicana:
“Em meus lábios grandes fermenta a farinha do sarcasmo que coloniza Minha Mãe África os meus ouvidos não levam ao coração seco misturado com o sal dos pensamentos a sintaxe anglo-latina de novas palavras.”
Mas, Craveirinha, que militou na célula da 4ª. Região Público-Militar da Frelimo, viveu também a saga da resistência ao colonialismo. Lutas em várias frentes que o tornariam o primeiro jornalista sindicalizado moçambicano e presidente da Associação Africana, na década de 50, bem como o primeiro presidente da Mesa da Assembleia Geral da Associação de Escritores de Moçambique (AEMO), entre 19882/1987, que em 2003, em parceria com a Hidroelétrica de Cabora Bassa, instituiria o Prémio da Literatura José Craveirinha. Honras e evocações merecidas que, aquando do seu 80º. aniversário, seriam coroadas com uma homenagem do governo moçambicano, que consagraria 2002 como “O Ano de José Craveirinha”.
A poesia de Craveirinha começa onde acaba o asfalto, nos subúrbios. Emerge do caniço e do mundo da água pútrida, onde “os meninos fazem papagaios de jornais velhos e nembo de figueira brava”, os mesmos meninos que estendem suas “mãozinhas de fome para as papaias”. Luta pela libertação do homem negro das garras da opressão e anseia pela justiça social universal:
“Eu cidadão anónimo do País que mais amo sem dizer o nome se é para dar corpo e alma dou-me todo como aquela vez em Chaimite. Dou-me em troca de mil crianças felizes nenhum velho a pedir esmola uma escola em cada bairro salário justo nas oficinas filas de camiões carreados de hortaliças um exército de operários todos em serviço um tesouro de belas raparigas maravilhando praias e ao vento de minha terra uma grande bandeira sem quinas.” De facto, o que exaspera o poeta é o sofrimento do (seu) povo, decorrente das condições de exploração sociais, que, infelizmente, como expressa no poema “Um céu sem anjos de África”, remontam aos navios negreiros que salgaram o mar com o seu sangue e não só, como canta Pessoa, com “lágrimas de Portugal”: “Oh!
Quantos anjos já nasceram das Munhuanas de amor do teu seio África! E quantas Detinhas partiram para sempre dos teus braços mornos, África!

E quantos filhos inocentes deixaram o teu colo maternal, África!
Perpassa, no entanto, na poesia de Craveirinha, uma perspetiva otimista de um mundo novo de esperança, de universalismo humano e multirracialismo, pois, como canta: “Do ódio da guerra e dos homens das mães e das filhas violadas, das crianças mortas de anemia, e dos seres que apodrecem nos calabouços cresce no mundo o girassol da esperança” …
O escritor José Saramago (1922-2010) foi o primeiro autor português a ser distinguido com o Prémio Nobel da Literatura, recebido em 10 de dezembro 1998, já lá vão mais de duas décadas. Uma efeméride que, neste ano de 2022, coincide com o centenário do seu nascimento.
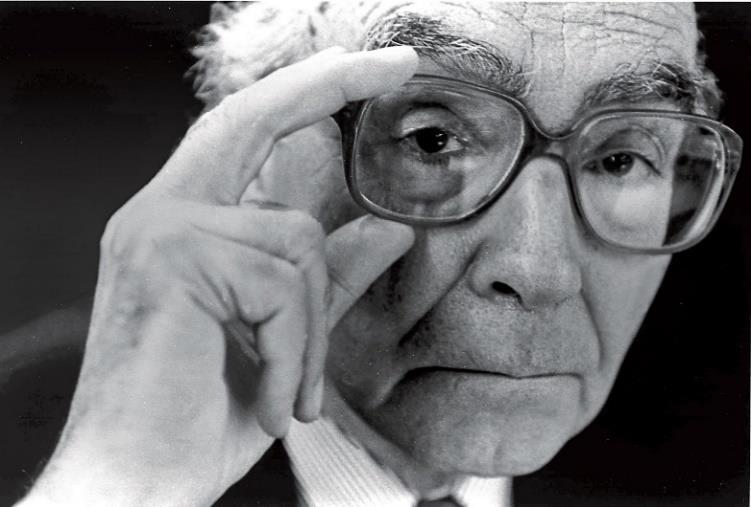
No entanto, além do Nobel da Literatura, o escritor seria ainda galardoado, em 1995, com o Prémio Camões e a Consagração da Carreira da Sociedade Portuguesa de Autores, bem como os prémios Vida Literária e o Grande Prémio do Teatro da Associação Portuguesa de Escritores (1993), reconhecimentos aos quais adita diversas distinções, entre os quais, vários doutoramentos honoris causa atribuídos por variadas universidades estrangeiras.

Ademais, em reconhecimento pela sua obra, seria também agraciado com o grau de Comendador da Ordem Militar da Santiago da Espada (1985) e, mais tarde, com o Grande-Colar da mesma Ordem, em 1998, entre muitos outros prémios nacionais e internacionais, nomeadamente o de Chevalier de L’Ordre des Arts et des Lettres, atribuído pelo governo francês.
Todavia, o Nobel seria a cereja em cima do bolo na sua vida e obra literária. Obra que o comunicado da Academia Sueca à imprensa em 8 de outubro de 1998 fundamenta “com parábolas portadoras de imaginação, compaixão e ironia que torna constantemente compreensível uma realidade fugidia”.
Curiosamente e algo caricaturalmente, Saramago teria conhecimento (fugidio) da atribuição do Nobel da Literatura em Frankfurt, quando em trânsito no aeroporto, após a sua presença na Feira do Livro, se preparava para regressar a casa: “Senhor José Saramago, chama uma voz feminina pelo altifalante na sala de embarque, (…) É o senhor? É que está aqui um jornalista que quer falar consigo. O senhor ganhou o prémio Nobel” …
Com efeito, Saramago receberia o Nobel meses depois, em Estocolmo, a 8 de dezembro de 1998, que, nem de propósito, coincidia com o Dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por conseguinte, o seu discurso, como é óbvio, entre muitos aspetos abordados, não poderia ser mais oportuno e ajustado. Deste modo, igual a si próprio, como escritor comprometido e coerente, os 50 anos da efeméride seriam a pedra basilar do seu discurso: “Neste meio século não parece que os governos tenham feito pelos direitos humanos tudo aquilo a que moralmente estavam obrigados. As injustiças multiplicam-se, as desigualdades agravam-se, a ignorância cresce, a miséria alastra. A mesma esquizofrénica humanidade capaz de enviar instrumentos a um planeta para estudar a composição das rochas, assiste indiferente à morte de milhões de pessoas pela fome. Chega-se mais facilmente a Marte do que ao nosso próprio semelhante”.

Ora, Saramago, a despeito de ter nascido no seio de uma família ribatejana pobre, em Azinhaga (Golegã), em 16 de novembro de 1922, e consequentemente se haver atido ao curso de serralheiro mecânico, singraria pela autoeducação e legar-nos-ia uma obra rica e importante, em especial romances, traduzidos em muitas línguas.
“Terra do Pecado” (1947), o seu primeiro livro, cuja ação se localiza numa aldeia ribatejana e, mais tarde, “Levantados do Chão” (1980), a história de uma família de latifundiários alentejanos (os Mau-Tempo) e dos seus trabalhadores braçais, constituem de facto as primeiras incursões narrativas. Aliás, Urbano Tavares Rodrigues consideraria esta obra uma “epopeia às avessas, que é também a sociologia de uma família bem representativa dos oprimidos”. De facto, um romance que seria reconhecido e galardoado com o Prémio Cidade de Lisboa (1980) e Prémio Ennio Flaiano (1992) e que, de certa forma, configura a matriz da sua obra futura.
Todavia, entre os seus cerca de 18 romances, “O Memorial do Convento” (1982) e “O Ano da Morte de Ricardo Reis” (1984), ambos recomendados opcionalmente no ensino secundário, são provavelmente os mais conhecidos. De facto, em 1987, quando o “Memorial” foi traduzido nos Estados Unidos, Irving Howe,
afeto ao New York Times Book Review, considerou-o “um romance brilhante”, uma obra ímpar sobre os amores trágicos de Blimunda Sete-Luas e Baltazar Sete-Sóis, sob o pano de fundo da construção do convento de Mafra, por ordem de D. João V. Uma história em que … “Era uma vez um rei que fez promessa de levantar um convento em Mafra. Era uma vez a gente que construiu esse convento. Era uma vez um soldado maneta e uma mulher que tinham poderes. Era uma vez um padre que queria voar e morreu doido. Era uma vez” …
Por seu turno, com “O Ano da Morte de Ricardo Reis”, Saramago surpreende tudo e todos, ao dar vida a um heterónimo de Fernando Pessoa, narrando-lhe os últimos anos de vida, vividos na Lisboa triste da época e de consolidação dos fascismos em Espanha, na Europa e em Portugal, como este (irónico) interrogatório da Polícia de Vigilância e Defesa do Estado a Ricardo Reis deixa transparecer: “O governo da Ditadura Nacional pôs o país a trabalhar. Não duvido, há patriotismo, dedicação ao bem comum, tudo se faz pela nação (…) Não rejeitarei a parte que me couber na distribuição dos benefícios, tenho visto que estão a ser criadas sopa dos pobres (…) Em Portugal tão cedo não haverá revoluções, a última foi há dois anos e acabou muito mal para quem se meteu nela (…)
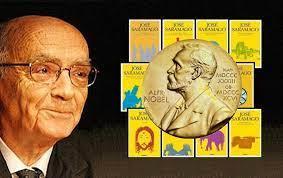
Posso retirar-me, pode, tem aqui o seu bilhete de identidade, ó Victor acompanha o senhor doutor à porta (…) No corredor o Victor disse, estava a ver que o senhor doutor fazia zangar o nosso doutor-adjunto, apanhou-o em boa maré (…) Eu ainda nem sei porque é que me intimaram a vir aqui. Nem precisa de saber, levante as mãos ao céu por tudo ter acabado bem”.

Uma obra que é também uma viagem literária e deambulatória por Lisboa, no ano de 1936, pejado de intertextualidades diversas, em especial Camões, Cesário Verde e Fernando Pessoa.
Por outro lado, “Jangada de Pedra” (1986) é certamente o mais iberista dos livros do escritor. Uma obra na qual o autor imagina a Península Ibérica a soltar-se do resto do continente europeu e andar à deriva, em busca de um rumo. Um romance que seria adaptado a cinema pelo holandês Georges Sluitzer, não obstante o resultado final não ter sido do agrado do escritor.
Ademais, Saramago escreveu também “O Evangelho Segundo Jesus Cristo” (1991) que terá sido provavelmente o seu romance mais controverso. De facto, dando conta de uma nova perspetiva da história de Jesus, a obra seria impedida pelo Secretário de Estado da Cultura da altura de apresentar-se internacionalmente, situação que provavelmente terá sido determinante para a “zanga” de Saramago com o país e para a
resultante deslocação e fuga (ou “exílio”) para Lanzarote, nas ilhas Canárias.
Porém, a estas obras, somam-se muitas outras como, “A Viagem do Elefante” (2008), entre muitas outras, que geralmente nos dão uma nova (re)interpretação da História e do homem na sociedade, de acordo com a sua cosmovisão do mundo. Nesta obra, Saramago conta-nos a atribulada viagem, entre Portugal e a Áustria, do elefante Salomão que, em 1551, o rei D. João III ofereceu ao arquiduque Maximiliano e que, ironicamente, após chegada apoteótica ao seu destino, pouco tempo sobreviveu, acabando por servir de bengaleiro.
No entanto, o seu livro “Ensaio sobre a Cegueira” (1995), também adaptado ao cinema, em 2008, pelo realizador Fernando Meireles e levado a palco por João Brites no Teatro Trindade e mais tarde pela companhia brasileira Andantes, é plausivelmente o livro de Saramago que mais vendeu em todo o mundo. Uma narrativa que é uma interessante metáfora sobre a sociedade que, atingida por uma cegueira súbita, ataca paulatinamente a população, que se fecha em sanatórios, nos quais predomina a animalesca lei do mais forte. Uma obra que Saramago, em entrevista ao Jornal de Letras, explicaria:
“Tal como o fosso entre os ricos e os pobres se torna cada vez mais profundo, também o fosso entre os que sabem e os que não sabem está a tornar-se vertiginoso. Essa é outra cegueira da razão”.
Destaque-se ainda “Caim” (2009), o seu último romance, uma narrativa polémica, ao qual recorre para demonstrar a tese de que “a Bíblia é um manual de maus costumes”.
Antes, porém, da sua atividade literária, que só em 1976 passou a ser exclusiva, José Saramago iniciou a sua atividade profissional como serralheiro mecânico, exercendo ainda funções de desenhador, funcionário da Caixa de Abono de Família do Pessoal da Indústria Cerâmica, editor da Editorial Estúdios Cor e ainda tradutor e jornalista, em especial do Diário de Notícias, do qual foi diretor-adjunto. De realçar ainda os seus comentários políticos no jornal “Diário de Lisboa” (1972/1973), bem como o trabalho de coordenação do suplemento literário deste vespertino e a sua colaboração como crítico literário na revista “Seara Nova”. Porém, Saramago, no âmbito do jornalismo, distinguiu-se sobretudo como excelente cronista. Um cronista que reconheceria à crónica uma feição literária, capaz de ultrapassar a historicização do momento presente, que, apesar de precária, tem a vontade de superar o efémero, com a preocupação de “fixar a temporalidade”. Com efeito, Saramago entende-a sobretudo como uma espécie de viagem espácio-temporal, que tendo em conta “o vício de pensar historicamente”, a coloca na intersecção dos planos literários e historiográficos. Ademais, a crónica é ainda, por vezes, assumida como arma de denúncia da injustiça social e gesto de

intervenção, como é evidente na antologia de cerca de 60 crónicas publicadas pela primeira vez no jornal “A Capital”, entre 1968-1969, reunidas no volume “Deste mundo e do outro” (1986), de que esta crónica intitulada “O Direito e os Sinos” é claramente exemplificativa: (…)
“Toquei a finados pelo Direito, porque o Direito morreu.
Assim mesmo, como quem já sabia que falava para a História.
Este camponês, diz o narrador, via todos os dias o senhor da terra tirar-lhe uma fatia do seu pequeno campo. Reclamou, protestou, sem resultado. Então decidiu anunciar urbi et orbi – o mundo pode ter o tamanho de uma aldeia - a morte do Direito.
(…)

E agora imaginemos os sinos do mundo, em todos os templos que usem sinos para clamar, chorar e protestar, dobrando a finados, num ressoar universal que salta de cidade em cidade, por cima das fronteiras, lançando pontes sonoras por sobre os oceanos. Vamos ensurdecer todos. Quem poderá suportar este clamor?”
Não esqueçamos que Saramago, alcunha da família Meirinho Sousa, enquanto militante do Partido Comunista Português e humanista convicto, sempre esteve na primeira linha da frente na defesa dos humilhados e oprimidos, pelo que a imagem metafórica de todos os sinos do mundo unidos, a tocar em uníssono, tem certamente sentido e efeitos mobilizadores.
Aliás, seriam as dificuldades económicas, que ele próprio sentiria na pele, que o forçariam à interrupção do ensino secundário no Liceu Gil Vicente, em Lisboa, cidade onde viveria a partir dos 12 anos, e posteriormente cresceria e acabaria por exercer funções de vereador. Cidade que está também, no centro da sua formação, em especial a biblioteca pública do Palácio Galveias, que confidencia “foi aí, sem ajudas nem conselhos, apenas guiado pela curiosidade e pela vontade de aprender, que o meu gosto pela leitura se desenvolveu e apurou”.
Lisboa que é também atualmente a sede da Fundação José Saramago, criada em 2007, que em seu nome se dedica à difusão da literatura, defesa dos direitos humanos e do meio ambiente, que desde 2012 se encontra sediada na Casa dos Bicos.
Mas voltando às crónicas.
Efetivamente, a crónica em Saramago é um exercício de uma atitude de empenhamento e perceção atenta ao que acontece por este mundo, que em tom conversacional e de diálogo cúmplice e íntimo convoca o leitor para a intervenção. Como escreveu n’ “A Bagagem do Viajante” (1973), uma compilação de 59
crónicas do vespertino “A Capital” e “Jornal do Fundão” (1971-1972), consideraria que “o simples cronista que eu sou se deverá dar por satisfeito com aflorar ao de leve as interrogações mais próximas. É o seu modo de estar presente, de intervir, de exprimir a sua cidadania”.

Realmente, como comentaria Saramago acerca das suas crónicas, “Está tudo lá” … Mesmo (algumas) memórias biográficas, como a famosa “Carta para Josefa, minha avó” e “O meu avô, também” …
Saramago estreia-se como poeta aos 44 anos com “Poemas Possíveis” (1966). Voltaria poucos anos mais tarde com “Provavelmente Alegria” (1970), encerrando a sua produção poética com “O Ano de 1993” (1975). Com efeito, inspirado pelos “materiais herdados” da nossa tradição lírica, em especial Pessoa, e influenciado pela leitura do “Filho do Homem” de José Régio, bem como por “experiências de ordem sentimental”, Saramago lança os dois livros iniciais de poesia lírica, com alguns laivos de surrealismo e uma certa vocação narrativa, a que ajunta posteriormente uma obra final em tom épico e de género indefinido.
“Poemas Possíveis” apresenta-nos assim uma poesia algo cerebral, que para além da reflexão sobre a possibilidade da poesia e do poder da palavra, assenta em três coordenadas essenciais do universo temático do autor: a opressão e a solidariedade humana; o lugar dos deuses no mundo dos homens (“Mitologia”) e o amor como possibilidade de suspender o tempo e a morte (“O Amor dos Outros/Nesta esquina do tempo”). Assim, como perpassa no poema “Quando os homens morrerem”, expressa-se que o único sentido da vida é “fazer da Terra um Deus que nos mereça/e dar ao Universo o Deus que espera”.
Por sua vez, quanto ao amor e após a apresentação dos amantes míticos, sobressai “Nesta esquina do Tempo” a ideia do amor físico e sensual, em que o tempo se suspende milagrosamente e a vida recomeça. Um momento sem tempo e antídoto para a vida opressiva:
“Nesta esquina do tempo é que te encontro Ó noturna ribeira de águas vivas Onde os lírios abertos adormecem A mordência das horas corrosivas.
Entre as margens dos braços navegando, Os olhos estrelas do teu peito, Dobro a esquina do tempo que ressurge Da corrente do corpo em que me deito.”
Deste modo, nos cerca de 150 poemas que constituem a obra, sobressai, entre outros, um conjunto de textos de denúncia e protesto, em que o poeta nos fala de liberdade e censura (“Poema da Boca Fechada/Os Inquiridores”), que se aproximam da estética neorrealista. Ressalta, ainda, a temática da fraternidade e da opressão (“Fraternidade/Salmo”), ora a subserviência e a mediocridade (“Ouvindo Beethoven”) ora a guerra moderna (“Mãos Limpas”).
O conhecido poema “Fala do Velho do Restelo ao Astronauta”, de ostensiva intertextualidade tão ao gosto do autor, é um exemplo concreto, irónico e crítico à vaidade e ambição desmedida, em que perpassa o ceticismo, ao tomar o homem estrangeiro na sua própria Terra, ainda dominada pela fome, miséria e guerra:
“Aqui, na Terra, a fome continua. A miséria, o luto, e outra vez a fome. (…)

No jornal, de olhos tensos, soletramos
As vertigens do espaço e maravilhas: Oceanos salgados que circundam Ilhas mortas de sede, onde não chove.
Mas o mundo, astronauta, é boa mesa Onde come, brincando, só a fome, Só a fome, astronauta, só a fome, E são brinquedos as bombas de napalme.”
O retorno à poesia cumpre-se e recupera-se posteriormente, em “Provavelmente Alegria”, em versos mais contidos, retomando anteriores temáticas.
Por sua vez, “O ano de 1993” é uma obra de poesia a lançar pontes para a ficção, com vários poemas de alerta e de esperança.
Além disso, há ainda diários, como os “Cadernos de Lanzarote” (1994- 1998), nos quais o escritor faz a conta-corrente dos seus dias, descrevendo encontros, pensamentos e debatendo ideias. Recorde-se que recentemente foi dado à estampa o sexto e inédito “Último Caderno de Lanzarote”, que aborda 1998, o ano da atribuição do Nobel.
Contudo, como mero exemplo aleatório, transcrevemos uma passagem dos Cadernos IV, de 1996, na
qual nos dá conta da sua “árvore genealógica literária” e por extensão das suas predileções e influências: “Uma revista espanhola teve a ideia de pedir a uns quantos escritores que elaborassem a sua árvore genealógica literária (…) A minha lista, com a respetiva fundamentação foi esta: Luís de Camões, porque como escrevi no Ano da Morte de Ricardo Reis, todos os caminhos portugueses a ele vão dar; Padre António Vieira, porque a língua portuguesa nunca foi mais bela que quando ele a escreveu; Cervantes, porque sem ele a Península Ibérica seria uma casa sem telhado: Montaigne porque ele não precisou de Freud para saber quem era; Voltaire, porque perdeu a ilusão sobre a humanidade e sobreviveu a isso; Raul Brandão, porque demonstrou que não é preciso ser-se génio para escrever um livro genial, o Húmus; Fernando Pessoa, porque a porta por onde se chega a ele é a porta por onde se chega a Portugal; Kafka, porque provou que o homem é um coleóptero; Eça de Queirós porque ensinou a ironia aos portugueses; Jorge Luís Borges, porque inventou a literatura virtual; Gogol porque contemplou a vida humana e achou-a triste.”

No fundo, algumas preponderâncias marcantes de Saramago, cujas abordagens pessoais e reflexivas passam também pelo empenhamento político, como é seu timbre, de que é exemplo concreto esta passagem dos Cadernos I, de 1994: “Foi a falta de solidariedade que fez na Europa 18 milhões de desempregados, ou são eles tão somente o efeito mais visível da crise de um sistema para o qual as pessoas não passam de produtores a todo o momento disponíveis e de consumidores obrigados a consumir mais do que necessitam? A Europa, estimulada a viver na irresponsabilidade, é um comboio disparado, sem freios, onde uns passageiros se divertem e os restantes sonham com isso. Ao longo da linha vão-se sucedendo os sinais de alarme, mas nenhum dos seus condutores pergunta aos outros e a si mesmo: Aonde vamos?”.
São ainda bastante conhecidas as suas peças teatrais como “A Noite” (1979) ou “Que Farei com este Livro?” (1980): a primeira com ação passada na redação de um jornal, na noite de 24 para 25 de Abril de 1974, que foi considerada a melhor peça de teatro representada em 1979 pela Associação de Críticos Portugueses; e a segunda, centrada na figura de Camões e na publicação da primeira edição de “Os Lusíadas”. De facto, tomando a redação de um jornal como metáfora localizada do processo político português, Saramago aborda os tempos obscuros em que a liberdade de pensamento e expressão é condicionada, situação que é evidente desde a primeira réplica da peça na qual se alude à censura (o telefonema do chefe de redação para o coronel de serviço), ou neste diálogo entre Jerónimo e o diretor: “Se nós não tivéssemos outras razões para acreditar que o golpe é contra o fascismo (a palavra provoca uma certa perturbação), basta vê-lo como está. Aí encolhido, a tentar abrandar-nos, a querer levar-nos
pelo sentimento. Não vale a pena. Em nome da tipografia, informo-o de que o jornal sairá. E se não houver jornalistas para saberem o que se está a passar, vão os tipógrafos para a rua”.
Censura que é retomada em duas cenas fulcrais da peça sobre Camões, quando este dialoga com o censor Frei Bartolomeu Ferreira, rebatendo os argumentos por este invocados, tendo em vista a autorização para a publicação d’ “Os Lusíadas”.
Todavia, obras em que, como noutras, a temática da História é central na ficção saramaguiana e a metáfora é central, que, como ele próprio a define, é “um modo próprio de espreitar o outro lado da realidade”.
Realidades metafóricas a que se ajuntam outras peças, como “A Segunda Vida de Francisco de Assis” (1987) e “In Nomine Dei” (1993). A primeira, projetando no futuro esta personagem do passado, inserindo (o “pobre”) Francisco de Assis numa sociedade tecno-burocrática e capitalista dos nossos dias, assente num outro código de valores; e a segunda, situada no segundo terço do século XVI, num tempo e num lugar onde “como tantos outros tempos e lugares, católicos e protestantes andaram a trucidar-se uns aos outros em nome do mesmo Deus”.
Peças em que passado, presente e futuro se fundem e confundem aqui e agora, num tempo único da obra saramaguiana.
Mas também o mundo infanto-juvenil seduziu Saramago, que nos “brindou” com alguns títulos interessantes. Até porque, com uma costela pessoana, acredita que “o melhor do mundo são as crianças …”

“A Maior Flor do Mundo” (2001) é sem sombra de dúvidas uma das obras (mais) recomendadas, direcionada para o 1º. ciclo. Com efeito, nesta aventura ecologista, um menino altruísta e abnegado faz nascer a maior flor do mundo, que graças ao seu esforço é salva da morte. Um menino-herói que “saíra da aldeia para ir fazer uma coisa que era muito maior do que o seu tamanho e de que todos os tamanhos” …
Um livro que também daria origem a uma curta-metragem de animação com o mesmo nome, de autoria do realizador espanhol Juan Pablo Etcheberry, que, pleno de moralidade e questionamentos, parte de duas perguntas fundamentais:
- E se as histórias para crianças passassem a ser de leitura obrigatória para os adultos?
- E seriam eles capazes de aprender o que há tanto tempo têm andado a ensinar?
Por sua vez, o conto de cariz autobiográfico “O Silêncio da Água” (2011), recomendado pelo Plano Nacional de Leitura (PNL) para o 5º. ano e redigido a partir de uma recordação de infância do escritor, é também uma proposta de leitura possível. Uma fábula universal na qual sobressaem a beleza e a sabedoria e do qual
destacamos esta curta passagem:

“Voltei ao sítio, já o Sol se pusera, lancei o anzol e esperei. Não creio que exista no mundo um silêncio mais profundo que o silêncio da água. Senti-o naquela hora e nunca mais o esqueci”.
Por outro lado, “O Conto da Ilha Desconhecida” (1997), também recomendado pelo PNL para o 8º. ano, é uma outra opção recomendável para o público juvenil.
Situada num tempo e espaço indeterminados, como nos antigos contos tradicionais, a narrativa conta a estória de um homem otimista e determinado, que queria um barco para ir à procura de uma ilha desconhecida. No fundo, uma busca pelo sonho e pelo conhecimento, que nos transporta até aos Descobrimentos e para a luta do ser humano contra as convenções, na procura de si próprio e do desconhecido, pois todas as ilhas são desconhecidas até à hora da descoberta e do desembarque.
Assim começa este conto, para o qual fica o convite de embarque na leitura:
“Um homem foi bater à porta do rei e disse-lhe: - Dá-me um barco.
A casa do rei tinha muitas portas, mas aquela era a das petições. Como o rei passava todo o tempo sentado à Porta dos Obséquios (entenda-se, os obséquios que faziam a ele) e cada vez que ouvia alguém chamando à Porta das Petições fingia-se desentendido”.
Neste âmbito é outrossim de realçar o conto natalício “História de um muro branco e de uma neve preta”, que teria origem em duas crónicas publicadas no final dos anos 60 no jornal “A Capital”, intituladas “Um Natal há cem anos” e “A Neve Preta”.
Narrativas às quais se podem ajuntar o livro “Objeto Quase” (1978), com um conjunto de seis contos em que Saramago utiliza uma linguagem poética para fundir homens, seres e coisas em diferentes cenários. Entre estes, saliente-se “A Cadeira”, sobre a cadeira de um ditador (Salazar) que vai sendo lentamente corroída até que ele se estatele no chão, bem como “Embargo” que seria adaptado a uma curta-metragem, em 2010, pelo realizador português António Ferreira.
De referir ainda a “Poética dos Cinco Sentidos”, uma obra coletiva com seis autores e títulos diferenciados: O Ouvido, de José Saramago; A Visão, de Maria Velho da Costa; O Olfato, de Augusto Abelaira; O Gosto, de Nuno Bragança; O Tato, de Ana Hatherly; e O Sexto Sentido, de Isabel da Nóbrega.
Saramago lega-nos ainda um livro de crónicas de viagens, intitulado “Viagem a Portugal” (1981), uma
obra sobre os encantos do país e as suas opiniões sobre paisagens, monumentos e quadros, entre os quais se destaca a sua passagem por Guimarães, da qual transcrevemos este breve excerto: “Chegado a Guimarães, o viajante tem ainda tempo para entrar na Igreja de S. Francisco, onde o recebe um minucioso sacristão que sabe do seu ofício (…) o viajante foi à sacristia e ao claustro, ouviu as explicações, e regressando à nave reconheceu o esplendor das talhas que sobre as capelas são como caramanchéis floridos (…) viajante deu com a deliciosa miniatura que é a cela de S. Boaventura, ali embutida sobre um altar, o cardeal bonequito sentado à mesa, congeminando em seus piedosos escritos, com a estante carregada de livros, a mitra, o báculo, e a cruz a um lado, o serviço de chã ao outro (…).
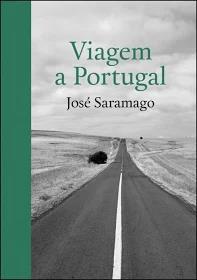
Declara já o viajante que este é um dos mais belos museus que conhece. Outros terão riqueza maior, espécies mais famosas, ornamentos de linhagem superior: o Museu de Alberto Sampaio tem equilíbrio perfeito entre o que guarda e o envolvimento espacial e arquitetónico. Logo o claustro da Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira, pelo seu ar recolhido, pela irregularidade do traçado, dá ao visitante vontade de não sair dali, de examinar demoradamente os capitéis e os arcos, e como abundam as imagens rústicas ou sábias, tão belas, há grande risco de cair o visitante em teimosia e não arredar pé. O que vale é acenar-lhe o guia com outras formosuras lá dentro das salas, e realmente não faltam, tantas que seria necessário um livro para descrevê-las: o altar de prata de D. João I e o loudel que vestiu em Aljubarrota, as Santas Mães, a oitocentista Fuga para o Egipto, a Santa Maria a Formosa de Mestre Pero, a Nossa Senhora e o Menino de António Vaz, com o livro aberto, a maçã e as duas aves, a tábua de frei Carlos representando S. Martinho, S. Sebastião e S. Vicente e mil outras maravilhas de pintura, escultura, cerâmica e prataria. É ponto assente para o viajante que o Museu Alberto Sampaio contém uma das mais preciosas coleções de imaginária sacra existente em Portugal, não tanto pela abundância, mas pelo altíssimo nível estético da grande maioria das peças, algumas verdadeiras obras-primas. Este museu merece todas as visitas, e o visitante jura de cá voltar de todas as vezes que em Guimarães estiver. Poderá não ir ao castelo, nem ao palácio ducal, mesmo estando prometido: aqui é que não faltará. Despedem-se o guia e o viajante, cheios de saudades um do outro, porque outros visitantes não havia. Porém, parece que não faltam lá mais para o verão”. Muito ficou ainda por dizer sobre Saramago e porventura nem sempre teremos abordado, ainda que sumariamente, o mais importante da sua vida e obra. Porém, um artigo de revista tem destas coisas … (Re)ler Saramago e (re)visitar alguns dos seus espaços, como a Fundação José Saramago, instalada na Casa dos Bicos, em Lisboa, ou a sua terra natal em Azinhaga (Golegã), e até emblemáticos cenários da sua

obra, como por exemplo o Convento de Mafra e/ou a cidade de Lisboa, será porventura a forma complementar de conhecer melhor a sua vida e obra e de lhe prestar a nossa devida e merecida homenagem e preito.
Em 1572, já lá vão 450 anos, sairiam do prelo duas edições da obra “Os Lusíadas”: uma com o pelicano que figura na parte superior da portada com a cabeça voltada para a esquerda e outra para a direita, embora, em bom rigor, dificilmente se possa afirmar qual terá nascido primeiro.
De facto, duas publicações e não apenas uma, que, segundo crê o camonianista Faria e Sousa (1590-1649), o revelador desta curiosidade em 1639, teriam sido devidas ao êxito alcançado pela primeira edição.
Porém, longos 25 anos, provavelmente entre 1545 e 1570, teria trabalhado Luís Vaz de Camões (1524-1580) na sua obra-prima, na qual depositaria todo o seu génio e talento, estudo e experiência, como cita na estrofe 154 do canto X:
“(…) Nem me falta na vida honesto estudo Com longa experiência misturado, Nem engenho, que aqui vereis presente Cousas que juntas se acham raramente.”

Capa da primeira edição d’Os Lusíadas, de 1572.
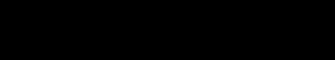

Efetivamente, “Os Lusíadas” são o produto do estudo, experiência e engenho, “cousas que juntas se acham raramente”, ou seja, fruto de um maturado trabalho produzido maioritariamente na Ásia, nos confins do Oriente, espaço para o qual Camões embarcou em 1553 e onde viveria até 1569. Viagens marítimas que, diga-se, facultariam ao poeta o “saber da experiência feito”, sulcando os oceanos Atlântico e Índico, mares nos quais Vasco da Gama navegara cerca de 55 anos antes, na descoberta do caminho marítimo para a Índia. De facto, esta descoberta iria constituir a matéria épica da obra e o plano narrativo central d’Os Lusíadas, que, paralelamente ao plano narrativo da História de Portugal e complementarmente ao plano da intriga dos deuses ou da mitologia e plano das intervenções e reflexões do poeta, constituiriam os 4 planos estruturais da narração.
Com efeito, seria mercê desta experiência asiática, arrecadada nos cerca de 16 anos de vivência no
Camões Lendo «Os Lusíadas» aos Frades de São Domingos (1929), de António Carneiro
Oriente, convividos testemunhalmente com os feitos dos clãs dos Albuquerques, Almeidas e Castros, enquanto ia escrevendo a sua obra (ao que consta numa gruta em Macau), que Camões iria paulatinamente construindo a sua (e nossa) obra-prima. Obra que, outrossim, terá sido lendariamente salva a nado nestas águas, no decurso do naufrágio ocorrido em 1559, aquando de uma viagem de Camões entre Macau e Goa. Realmente, neste poema épico, como enuncia na Proposição, Camões canta “o peito ilustre lusitano”, ou seja, os portugueses, herói coletivo desta obra. Um canto concretizado não só nas “armas e os barões assinalados/Que, da Ocidental praia Lusitana (…) /Passaram ainda além da Taprobana”, mas também nos “Reis que foram dilatando/A Fé, o Império …” e todos “aqueles que por obras valerosas/Se vão da lei da morte libertando”. Cantar exaltadamente os feitos gloriosos dos “Lusíadas”, povo descendente de Luso, e companheiro de Baco, cujas raízes remontam aos lusitanos de Viriato, que enfrentou os poderosos romanos, foi, pois, o propósito camoniano. Um título que provem duma assimilação erudita dos lusitanos aos portugueses, que Camões adotaria e que teria sido lançada em 1531 pelo humanista André de Resende (1498-1573), responsável, na época, pelo neologismo, que, curiosamente, Camões usaria apenas no título da obra, uma vez que posteriormente, ao longo do poema, utilizaria sobretudo palavras e expressões sinónimas como “lusitanos”, “portugueses” ou “filhos de Luso”, como se constata na estrofe 21, do canto III:
“Esta foi a Lusitânia, derivada De Luso ou Lisa, que Baco antigo Filhos foram, parece ou companheiros.”
No entanto, afora a experiência e o seu genial engenho, Camões levou também a cabo preciosos estudos, tendo-se servido de várias fontes literárias e históricas para conceber a sua obra. Fontes literárias como as chamadas epopeias primitivas de Homero (Ilíada e Odisseia) e Virgílio (Eneida) e outras renascentistas de sentimento épico, como as de Boiardo, Ariosto e Tasso; e ainda fontes históricas, como dos cronistas Fernão Lopes, João de Barros, Fernão Lopes de Castanheda, Diogo de Couto e Damião de Góis, entre outros.

Experiência, estudo e engenho, que na forma de uma narrativa em verso, organizada em 10 cantos de versos decassilábicos heroicos (o 10 enquanto número perfeito), concedem às 1102 oitavas da obra, em rima

cruzada e emparelhada, a perfeição formal das grandes obras mundiais, que a linguagem e estilo camonianos complementam de forma grandiloquente.
Obra traduzida mundialmente em várias línguas, inclusive em concani e esperanto.
Mas, além da individualidade e genialidade camoniana e do seu “honesto estudo”, experiência, engenho e arte, patente em Os Lusíadas, a obra é outrossim o produto do espírito de uma época: o Renascimento.
Realmente, é no decurso da Renascença, enquanto ressurgimento e imitação da cultura clássica, na qual o homem volta a ser a medida de todas as coisas, opondo o teocentrismo medieval a um antropocentrismo vigente, que potencia a emergência dos “homens valorosos/ “mais do que prometia a força humana”, que se consubstancia a cultura humanista e deste modo se combate a escolástica como filosofia castradora do espírito crítico.
Deste modo, pode dizer-se que se Camões deve muito à cultura do seu tempo, este não teria sido o que foi sem Camões, que, ao escrever a mais genial epopeia da Renascença, é um criador da universalidade da cultura e das proezas humanas dos portugueses, cujas façanhas verdadeiras e não “fantásticas, fingidas, mentirosas”, como teriam sido as dos gregos, romanos, franceses e italianos, orgulham Camões como português. Feitos tamanhos e grandiosos que fazem calar Alexandre e Trajano e cessar “do sábio grego e do troiano/As navegações grandes que fizeram”:
“Ouvi: que não vereis com vãs façanhas, Fantásticas, fingidas, mentirosas, Louvar os vossos, como nas estranhas Musas, de engrandecer-se desejosas:
As verdadeiras vossas são tamanhas
Que excedam as sonhadas, fabulosas, Que excedem Rodamonte e o vão Rugeiro, E Orlando, inda que fora verdadeiro” (canto I, estância 12)

De facto, opondo aos heróis clássicos e renascentistas franceses e italianos figuras portuguesas, cuja força intrínseca e coletiva seria prodigiosa, Camões contrapõe Nuno Álvares Pereira, Egas Moniz e D. Fuas Roupinho, cujos feitos reais destroem os feitos míticos:
“Por estes vos darei um Nuno fero Que fez ao Rei e ao Reino tal serviço. Um Egas e um Dom Fuas, que de Homero
A cítara para eles só cobiço.” (canto I, estância 12)
Desta forma, Camões apenas cobiça a cítara de Homero, porquanto os mitos apenas lhe interessam como elementos de valorização e adorno do poema, como a moda renascentista exigia. Deste modo e até como engrandecimento das façanhas portuguesas, Camões encenou um conflito com os deuses do Olimpo, inventou figuras lendárias como o Adamastor que materializa as forças da natureza opostas à grandeza humana; e criou uma simbólica ilha fantástica como a Ilha dos Amores, que funcionando simbolicamente como recompensa ao esforço e espírito empreendedor dos navegadores, que superaram a sua condição humana pelos feitos alcançados, consagra e diviniza os portugueses, que ao casar com as deusas, recolocam o amor como centro da harmonia no mundo.
Amor que surge também em episódios líricos como a “Formosíssima Maria” e “Inês de Castro”, em paralelo com episódios bélicos como a “Batalha de Aljubarrota”, ou episódios naturalistas como a tempestade, entre outros que remetem para a mitologia e simbolismo, numa variedade que em nada compromete a unidade da ação em torno da matéria central: a viagem dos portugueses à Índia.
Ademais, em paralelo ao épico coexiste o trágico n’Os Lusíadas. Com efeito, não se pode chegar ao outro lado do mundo impunemente, pois, como diria mais tarde Pessoa, na sua “Mensagem”, “quem quiser passar além do Bojador/ tem de passar além da Dor”. Ora, estes dois contrários surgem sempre a par e devem ser entendidos como opostos suscetíveis de concerto ou harmonia. São exemplo concreto o episódio bélico da Batalha de Aljubarrota, no qual orgulho e medo contrastam claramente (“estavam pelos muros temerosas/ e de um alegre medo quase frias”). Situação que esta passagem do mesmo episódio pungentemente dilucida, aludindo o sofrimento das mães e das esposas, perante a violência e fatalidade da guerra: “Alguns vão dizendo e blasfemando Do primeiro que guerra fez no mundo, Outros a sede dura vão culpando Do peito cobiçoso e sitibundo, Que por tomar o alheio, o miserando Povo aventura às penas do profundo, Deixando tantas mães, tantas esposas, Sem filhos, sem maridos, desditosas.” (canto IV, estrofe 44)
Por isso, perante o impulso épico mais forte que provoca o sentimento trágico, arroja-se e irrompe (também) a voz do Velho do Restelo, que não só encarna os clamores das mulheres, mas também o grito do (calado) povo anónimo, atónito e temeroso:” Ó glória de mandar, ó vã cobiça/Desta vaidade a que chamamos

fama! (…) /Oh! Maldito o primeiro que, no mundo, /Nas ondas vela pôs em seco lenho!”
Realmente, para além do tom e matéria épica e subsequente sentido trágico, surgem também, no poema, em especial no denominado plano das intervenções ou reflexões do poeta, considerações diversas da sua subjetividade, cuja função visam transmitir as posições do sujeito poético face ao mundo, aos outros e a si mesmo, consumadas através de reflexões, críticas, lamentos e exortações de variada índole. Situações de antiepopeia e momentos disfóricos de natureza judicativa e valorativa que são reflexos da sagacidade e temperamento crítico do homem renascentista, reveladores do desencanto ante a pátria progressivamente “mergulhada numa austera apagada e vil tristeza” , ou do poder corruptor do dinheiro (“Quanto no rico, assi como no pobre,/pode o vil interesse e sede imiga/Do dinheiro, que a tudo nos obriga”), ou ainda a fragilidade da vida humana e a valorização do bem público, entre outros aspetos.

Um outro aspeto interessante da publicação d’Os Lusíadas, em 1572, seria o parecer do Inquisidor-mor de Portugal, Frei Bartolomeu Ferreira, no decurso da revisão doutrinal do Santo Ofício, como era normal na época: “Vi, por mandato do Santo Ofício e Geral Inquisição, estes dez cantos d’Os Lusíadas de Luís de Camões, dos valorosos feitos em armas que os Portugueses fizeram na Ásia e na Europa, e não achei neles coisa alguma escandalosa nem contrário à fé e bons costumes. Somente me pareceu que era necessário advertir os leitores de que o autor, para encarecer as dificuldades de navegação e entrada dos Portugueses na Índia, usa de uma ficção dos deuses gentios (…) Todavia, como isto é poesia e fingimento e o autor, como poeta, mais pretende mais que ornar o estio poético, não tivemos por inconveniente ir esta fábula dos deuses na obra, conhecendo-a por tal e ficando sempre a verdade da nossa santa fé. (….) E por isso me pareceu o livro digno de se imprimir.”
De facto, neste parecer perpassa a imagem de um censor pretensamente benévolo e tolerante, eventualmente erudito e com apurado gosto literário, o que historicamente não estará provado. Aliás, sabe-se que além das questões financeiras, Camões terá encontrado dificuldades com a censura da época, que a dramaturgia de José Saramago e Natália Correia explorariam nas peças teatrais “Que farei com este livro” e “Erros meus, má fortuna, amor ardente”, ambas publicadas em 1980. A primeira, de Saramago, que, além da visão do momento político do século XVI, estabelece um paralelo com a censura ditatorial do Estado Novo; e a segunda, de Natália Correia, peça encomendada à autora pelo Teatro Nacional D. Maria I, aquando do 4º. Centenário de Luís de Camões, ambas de leitura recomendável.
Muito mais haveria a dizer sobre Camões e “Os Lusíadas”. Todavia, em poucas palavras e em súmula, diremos como Maria Vitalina Matos:
“Os Lusíadas celebram a capacidade de alargar e aprofundar o saber; a realização do homem no que respeita ao amor; por fim, talvez o mais importante, o poder de edificar a vida face ao destino. De não ser vítima da fatalidade. De se libertar o seu sujeito do seu próprio destino. Por isso, um dos temas épicos consiste na comparação sistemática com os modelos antigos que tem o seu apogeu na divinização dos heróis.
Mas nem só de exaltação e glorificação vivem Os Lusíadas. Camões é também a consciência crítica que faz o diagnóstico lúcido e sombrio de uma decadência que se aproxima. Não desconhece nem esconde os erros, os defeitos e os crimes de tantos portugueses. Denuncia com mágoa a hipocrisia, o espírito de adulação, o abuso de poder a exploração dos humildes; queixa-se com ironia amarga da ingratidão dos conterrâneos. Celebra um povo, mas, ao mesmo tempo, revela a incapacidade que esse povo tem em saber reconhecer os mais dignos de entre os seus filhos. É esta bipolaridade, esta distância entre o épico e antiépico, entre o ser e o parecer que atinge o cerne da obra ou o seu equilíbrio, pondo em causa a finalidade épica que lhe esteve na origem.
Tudo isto é a expressão de um mundo de crise”.
Mas o burgo vimaranense está também exaltado nas páginas da nossa epopeia, quer na referência ao Cerco de Guimarães 1127 (estrofe 35, do canto III) quer na Batalha de S. Mamede, em 1128, abordada na estância 31 do citado canto:

“De Guimarães o campo se tingia Co sangue próprio de intestina guerra, Onde a mãe, que tão pouco o parecia Ao seu filho negava amor e terra. Co ela posta em campo já se via, E não vê o soberano o mito que erra Contra Deus, contra o maternal amor, Mas nela o sensual era maior”.
Outrossim, Camões está consagrado na toponímica da cidade, na rua homónima, que ainda hoje liga o Toural à Rua da Liberdade, nas Dominicas, cuja denominação toponímica se inseriu nas pomposas comemorações do 3º. centenário do nascimento do poeta, ocorridas na cidade em 1880, devidamente anotadas por João Lopes de Faria nas suas “Efemérides Vimaranenses”.
Aliás, muito recentemente, entre dezembro de 2017 e maio de 2018, “Os Lusíadas” seriam manuscritos em Guimarães por cerca de 450 “copistas”, dos 6 aos 95 anos, entre quais o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, que escreveria as três últimas estrofes.
Uma excelente iniciativa, denominada “Dê 10 minutos à Língua Portuguesa”, à qual antigos professores
da Escola Secundária Martins Sarmento e o seu movimento “Voltar à Escola” deram arranque e que contou ainda com o apoio da Biblioteca Raul Brandão e da Sociedade Martins Sarmento. Uma edição manuscrita e singular que atualmente se encontra à guarda da Sociedade Martins Sarmento, ao lado de um exemplar da primeira edição, produzida em casa do impressor António Gonçalves, na cidade de Lisboa.
Seguramente, uma obra a (re)ler, total ou parcialmente, plausivelmente com outros olhos…

Neste ano de 2022, perpassam 70 anos do falecimento de Teixeira de Pascoaes e 100 anos da publicação da refundição da obra brandoniana “História de um Palhaço”, publicada na revista Seara Nova, que também celebra o seu centenário, na qual ambos estiveram envolvidos.
Com efeito, Pascoaes e Raul Brandão eram amigos íntimos que se visitavam assiduamente em Gatão (Amarante) ou na Casa do Alto, em Nespereira (Guimarães), que o poeta amarantino considerava “uma das maiores altitudes da Europa Contemporânea”.
Uma amizade sólida, de tal forma que Raul Brandão dedica a Pascoaes o volume II das Memórias e ambos escreveriam em parceria a tragicomédia em sete quadros, intitulada “Jesus Cristo em Lisboa” (1927), peça que surge como um Auto de Fé de condenação do farisaísmo social e da cegueira política portuguesa, que na época provocaria polémica: “
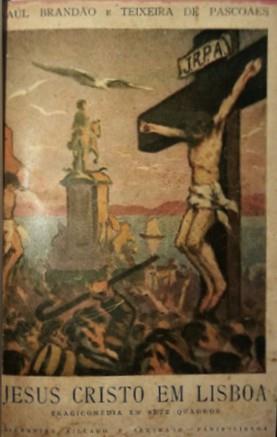
Uma obra que deu muito que falar, que só foi bem aceite pelos franciscanos” – conta a irmã de Teixeira de Pascoaes.
Uma peça que, acrescentaria, “mexeu muito com a sensibilidade das pessoas mais católicas que cristãs. Católico não custa ser, mas cristão é um caso muito sério”.
A quadra jocosa que se segue, na altura deixada nas mesas do Café Brasileira, em Lisboa, que ambos frequentavam esporadicamente, é bem elucidativa da perturbação que a obra provocou em certas sensibilidades religiosas:
“Jesus morreu na Judeia
Entre o bom e o mau ladrão
Agora morre em Lisboa

Entre Pascoaes e Brandão.”
Efetivamente, ambos faziam ocasionais visitas a Lisboa, onde Pascoaes chegaria a alugar uma casa, que Raul Brandão e a esposa também partilhariam e que, segundo consta, teria sido o espaço de escrita de “As Ilhas Desconhecidas” brandonianas, do “Livro de Memórias” pascoalinas, bem como local de refúgio do panfletário Raul Proença, fugido da polícia.
“A Brasileira do Chiado” e esta casa alugada seriam, portanto, pontos de convergência habituais entre amigos, cujas refeições, em especial entre Raul Brandão e Teixeira de Pascoaes eram animadíssimas. De tal forma intensas que, como afirma a irmã de Pascoaes, “o calor da conversa dilatava a noite até à madrugada”. Conversas que ocasionalmente contavam com Columbano Bordalo Pinheiro e até Almada Negreiros, entre outros.
De facto, não obstante, a sua vida isolada, Pascoaes tinha vários amigos, muitos dos quais visitavam frequentemente o seu solar, com vistas para o Marão, próximo do rio Tâmega. Uma casa que apesar da vetusta idade permaneceu na família e resistiu ao bárbaro incêndio de 1809, ateado pelas tropas napoleónicas comandadas por Loison (conhecido pelo “Maneta”), plausivelmente em retaliação pelo facto de o bisavô paterno de Pascoaes ser comandante dos Dragões de Chaves.
Ora, ali, por aquela casa, passaram entre muitos outros: António Correia de Oliveira, Leonardo Coimbra, José Régio, Sebastião da Gama, Sophia e frequentemente Raul Brandão. Uma casa que seria também abrigo durante nove anos, no decurso da década de 40, de um casal de judeus holandeses perseguidos pelo nazismo.
Ali, no solar de Gatão, consta também que no mirante, ao fundo da propriedade, era costume a irmã de Pascoaes, Miquelina de Vasconcelos, pintar frequentemente, por vezes acompanhada de Raul Brandão e da sua esposa Maria Angelina. Um local de convívio e amizade onde (ainda) se pode ler a quadra escrita pelo punho de Pascoaes: “Aqui, neste mirante, donde se avista o mundo Marânus, este triste vagabundo Compôs em verso pobre a sua história andante.”
No entanto, não obstante as visitas frequentes entre ambos, Pascoaes e Raul Brandão trocavam também correspondência sobre os mais variados temas. Cartas que se encontram compiladas no livro “Raul Brandão – Teixeira Pascoaes, Correspondência”, manancial epistolar de quase 240 missivas trocadas pelos dois amigos e irmãos espirituais, sob temas tão diversos como a agricultura (vinhos e pomares), a amizade,
a arte e as doenças, mas também a literatura, a morte e Portugal, bem como a saudade e a solidão, o teatro e as viagens.
Respigamos algumas passagens dessas inúmeras cartas sobre as visitas entre amigos: “Tenho muito prazer em o ter aqui comigo. Venha quando quiser. Demoro-me na quinta até Março. Depois vou para Lisboa procurar documentos para a minha História de Portugal” – escreve Raul Brandão na sua carta a Pascoaes, em 19 de fevereiro de 1910.
Por sua vez, uma visita de Pascoaes à Casa do Alto em 1922, motivaria a seguinte carta: “Muito e muito agradecido pela sua carta! Não lhe tenho escrito, mas não me esqueço do Alto nem da alma sublime que vive lá dentro (…)

Tenciono ir ao Porto dentro em poucos dias. De lá iremos com o Leonardo (Leonardo Coimbra) a sua casa; depois regressaremos todos a Amarante. Sim.”.
Cumplicidade, amizade e respeito mútuo, que se prolongariam vida fora, até ao fim dos dias. De facto, poucos meses antes da morte de Raul Brandão, em 1930, o escritor “vimaranense” participaria, ainda, numa homenagem a Pascoaes, em Viana do Castelo, que a 13 de julho lhe escreve: “Como hei de eu receber uma homenagem, enquanto a não prestarem à sua pessoa, que é o maior valor das nossas letras? Assim anda a justiça neste mundo.”
Ambos, porém, em 23 de abril de 1923, já haviam sido eleitos como sócios correspondentes para a Academia de Ciências de Lisboa, em reconhecimento pelo seu valor intelectual, como os seus legados deixam transparecer.
António Tarquínio de Quental (1842-1891) nasceu há 180 anos, em Ponta Delgada, nos Açores, e, concomitantemente, foi, há mais de 150 anos, um dos intervenientes famosos das Conferências do Casino. Justifica-se, por isso, a evocação deste açoriano e amigo do historiador vimaranense Alberto Sampaio que com ele partilhou os tempos académicos em Coimbra.
De facto, Antero foi desde a sua matrícula e formação em Direito, na Universidade de Coimbra, um espírito irreverente, provavelmente valdevinos da vida boémia académica coimbrã. Realmente, como ele próprio confessa, após a conclusão da formatura:
“não foi o estudo e Direito que me interessou e absorveu durante aqueles anos, tendo sido e ficado um insignificante legista (…) O facto importante, da minha vida, durante aqueles anos, e provavelmente o mais decisivo dela, foi a espécie de revolução intelectual e moral que em mim se deu (…)”.

Com efeito, Antero estaria em Coimbra entre 1858 e 1864, na primeira linha de combate na defesa dos novos ideais literários e políticos, provindos de França e Alemanha, que se consubstanciariam e iniciariam na fundação da secreta da Sociedade do Raio, constituída contra o autoritarismo da reitoria, na qual também participaram os irmãos vimaranenses José e Alberto Sampaio. Porém, a principal intervenção anteriana mais comprometida foi, porventura, a conhecida “Questão Coimbrã”, polémica que oporia o ultrarromantismo, em torno de António Feliciano de Castilho, Soares dos Passos e João de Lemos, aos jovens do “Bom Senso e Bom Gosto”, assim se intitulava a carta contestatária das hostes anterianas perante os ultrarromânticos.
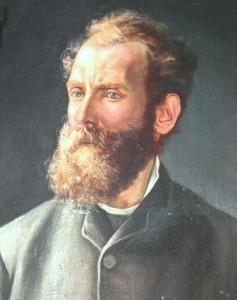
Efetivamente, Antero seria ainda um dos fundadores do Cenáculo, em Lisboa, em 1868, que juntaria em sua casa nomes como Eça de Queirós, Ramalho Ortigão, Oliveira Martins e um conjunto de jovens intelectuais que prolongariam, na capital, os encontros de Coimbra. Aliás, seria este grupo que, em 1871, lançaria as Conferências do Casino Lisbonense, que viriam a ser proibidas após a 5ª. conferência, porque, segundo o poder estabelecido, “expõem e procuram sustentar doutrinas e proposições que atacam a religião e as instituições políticas do Estado, (…) ofendem clara e diretamente as leis do reino e o código fundamental da monarquia”.
Realmente as Conferências do Casino, ocorridas há mais de 150 anos, apresentariam uma proposta revolucionária de “agitar na opinião pública as grandes questões da Filosofia, e da Ciência Moderna (…) estudar as condições da transformação, política, económica e religiosa da sociedade portuguesa (…) e ligar Portugal com o movimento moderno”
Com efeito, assentes no idealismo de Hegel e pessimismo de Schopenhauer e Hartman, que se traduziriam na obra (e vida) de Antero num certo niilismo, enquanto “desejo de aniquilação pessoal”, bem como na assunção de preocupações humanistas e universalistas de maior justiça social, decorrentes do socialismo utópico de Proudhom e Michelet, as Conferências do Casino e o poeta-filósofo buscavam uma nova ordem social e a adesão ao espírito científico e positivista de Comte e Taine.
Deste modo, quer na poesia, quer na prosa filosófica polemista, como é exemplo concreto o texto doutrinário “Causas de Decadência dos Povos Peninsulares”, é notória uma matriz comum de coerência na vida
e obra de Antero. É, pois, em nome dessa coerência que aumenta a sua descrença política no regime republicano como solução para Portugal e o leva, em 1873, a filiar-se no Partido dos Operários Socialistas de Portugal, em cujo programa colabora e vem a aceitar uma candidatura ao Parlamento em 1878, e, dois anos mais tarde, a elaborar o manifesto eleitoral do partido.

Politicamente e após cerca de 10 anos a viver em Vila do Conde com duas filhas órfãs do seu amigo Germano Meireles (1881-1890), Antero vem também a presidir à Liga Patriótica do Norte, surgida no contexto do Ultimato Inglês, experiência que contribuirá para adensar o seu estado de frustração e estado de saúde, cuja “vida antiga pareceu-me vã e a existência em geral incompreensível”.
Deste modo, a 11 de Setembro, vestido de preto, suicida-se com dois tiros de revólver, em Ponta Delgada, frente ao mar.
A retoma dos grandes temas do Primeiro Romantismo, na esteira de Almeida Garrett e Alexandre Herculano, são efetivamente os vetores fundamentais da poesia anteriana, cujas linhas de força se centram em duas interrogações essenciais: a interrogação horizontal eu/mundo, identificada na busca da justiça, amor, verdade e fraternidade, na qual o herói surge no meio do sofrimento e sacrifício, impostos por um mundo perverso; e a interrogação vertical eu/Deus, preocupada em conhecê-lo e compreendê-lo de forma racional.
Confrontam-se, assim, em Antero, duas tendências opostas: uma apolínea e luminosa que canta o amor e a razão como fonte da harmonia e do equilíbrio do indivíduo e da sociedade; e outra noturna, que canta a noite, o sonho, a atração que a morte exerce sobre o eu lírico, bem como a angústia existencial e a desilusão.
Assim, na lírica de Antero das “Primaveras Românticas”, das “Odes Modernas”, dos “Sonetos”, e de outras obras, despontam expressivamente temáticas como o amor espiritual e o idealismo platónico, patente em sonetos como “Abnegação” ou “Ideal”, bem como as preocupações sociais e as ideias revolucionárias, na qual a poesia é a voz da renovação e revolução, como o poema “Ideia IV dilucida: “Conquista, pois, sozinho o teu futuro, Já que os celestes guias te hão deixado Sobre uma terra ignota abandonado. Homem – proscrito rei – mendigo escuro!
Se não tens de esperar do céu (tão puro, Mas tão cruel!) e o coração magoado Sentes já de ilusões desenganado, Das ilusões do antigo amor perjuro;
Ergue-te, então, na majestade estoica
D’uma vontade solitária e altiva.
Num desforço supremo de alma heroica!
Faz um templo dos muros da cadeia, Prendendo a imensidade eterna e viva No círculo de luz da tua Ideia!”
Paralelamente, surgem também as linhas temáticas centradas no pessimismo e na evasão através do sonho e na incapacidade de adaptação ao real de que os poemas “Nox” ou “O Palácio da Ventura”, que transcrevemos, claramente ilustram:
“Sonho que sou um cavaleiro andante.
Por desertos, por sóis, por noite escura, Paladino do amor, busco anelante O palácio encantado da Ventura!
Mas já desmaio, exausto e vacilante, Quebrada a espada já, rota a armadura … E eis que súbito o avisto, fulgurante Na sua pompa e aérea formosura!
Com grandes golpes bato à porta e brado: Eu sou o Vagabundo, o Deserdado … Abri-vos, portas d’ouro, ante meus ais!
Abrem-se as portas d’ouro, com fragor … Mas dentro encontro só, cheio de dor, Silêncio e escuridão – e nada mais!”
A busca da felicidade e o encontro da desilusão constituem, assim, neste poema, não só a demande medieval deste cavaleiro andante pelo santo Graal, como também a aventura do espírito humano que oscilando entre o sonho e o cansaço, a animação e a desilusão, exige todo o empenho na sua conquista.
Outrossim, uma busca que passa igualmente, de forma racional, pelo ideal transcendente, que contrapõe antiteticamente a natureza religiosa ao espírito racionalista, a natureza conservadora a um espírito revolucionário e uma natureza e educação românticas a um espírito realista. Contradições que até na vida e na morte de Antero formaram uma antinomia, pois, como sabemos, lutou por viver e contrariar a doença, mas acabaria no suicídio, porque, como ele próprio afirmaria “quando um homem já não pode ser útil aos outros

nem a si próprio, deve desaparecer”.
“Um génio que era um santo”, como lhe chamou Eça de Queirós, ou, como diria Oliveira Martins, “homem fundamentalmente bom, que se tivesse nascido no século VI ou no século XIII, seria um dos companheiros de S. Bento e S. Francisco de Assis”, mas que, nado no século XIX, é “um excêntrico (…) porque em todos os tempos foram indispensáveis os hereges, a que hoje se chamam dissidentes”.
Insurgente que, apesar da heresia, acabaria “Na Mão de Deus”:
“Na mão de Deus, na sua mão direita, Descansou afinal o meu coração.
Do palácio encantado da Ilusão Desci a passo e passo a escada estreita.
Como as flores mortais, com que se enfeita A ignorância infantil, despojo vão, Depois do Ideal e da Paixão A forma transitória e imperfeita.
Como criança, em lôbrega jornada, Que a mãe leva ao colo agasalhada E atravessa, sorrindo vagamente, Selvas, mares, areias do deserto … Dorme o teu sono, coração liberto, Dorme na mão de Deus eternamente!”

Apesar da sua morte física, Antero de Quental está (também) imortalizado na toponímia vimaranense, numa artéria próxima do Parque da Cidade, na freguesia da Costa.
Evocação que traz também à memória o seu relacionamento com Alberto Sampaio, seu companheiro da luta académica coimbrã e cúmplice nas aventuras diversas, com a prisão por desordem de caloiros, o êxodo para o Porto durante a Rolinada, ou o episódio na Sala dos Capelos, que culminaria com a assinatura do “Manifesto dos Estudantes da Universidade de Coimbra à Questão Ilustrada do País.”
De facto, uma amizade iniciada em Coimbra, durante a vida universitária de ambos, que se prolongaria por mais de trinta anos, muitas vezes através de cartas, ou da presença física, como aconteceu no decurso da estada de Antero na quinta de Santa Ana, perto do Mosteiro da Costa, onde seria recolhido pelo amigo Sampaio após uma depressão.
Cartas que aludem também assuntos agrícolas, com frequentes referências aos bons vinhos minhotos que Sampaio oferecia a Antero, que rapidamente eram libados, ou outros assuntos pessoais, que, porém, quase sempre omitiam a política, uma vez que entre ambos estas divergências eram notórias.
Porém, uma amizade sólida, como esta carta de Antero reconhece:
“De todos os meus amigos, parece-me que a nenhum escrevo nesta hora com tão bom ânimo como a ti, porque a nenhum deixo um estado de espírito que me inspira tanta confiança (…)” lê-se numa carta inserida no artigo “Antero de Quental e Alberto Sampaio: a amizade na diferença” de Ana Maria Almeida Martins, publicado na Revista de Guimarães do ano de 1992.

De facto, uma amizade na diferença que, na hora da morte de Antero, Sampaio destaca com cumplicidade e comunhão:
“Enfim acabou-se o nosso santo amigo e com ele vai uma boa parte de nós mesmos” …
Esta amizade é ainda referida no livro infanto-juvenil “História de Aberto” de Emília Nova Faria onde aborda evocativamente:
“O primeiro amigo que fizemos em Coimbra chamava-se Antero de Quental. Era um rapaz açoriano e olhos muito azuis, muito barbudo e com grande cabeleira. Um dia, no fim de aulas, convidámo-lo a ir lá a casa comer uns bolinhos de bacalhau como só a Margarida sabia fazer.
- Nunca comi bolinhos tão bons! São de comer e chorar por mais – disse Antero em voz alta para a Margarida o ouvir.
Vaidosa com o elogio, ela apressou-se a aparecer à porta da sala.
-Se o menino gostou, volte amanhã para provar os meus rojões. Já ali os tenho em vinha-d’alhos.
A partir daí, o Antero passou a ser um freguês dos petiscos da Margarida e o nosso melhor amigo”.
Com efeito, uma amizade inicialmente alimentada pelo estômago, que prosseguiria posteriormente ao longo da vida, inclusive na viagem que ambos empreenderiam até Paris, em 1878, para visitar a Exposição Universal e muitas outras situações, como na visita a Lisboa, na tentativa de publicarem os seus escritos: “Muito janotas, de luvas e chapéu de seda, com os nossos escritos debaixo do braço, lá fomos até à capital. Desta aventura só me lembro de ter gasto as solas dos sapatos a andar de um lado para outro a bater às portas de todos os livreiros de Lisboa. Nenhum aceitou publicar o meu romance e os poemas de Antero!”
É óbvio que esta amizade prosseguiria e perduraria ao longo dos tempos. Assim, quando por cá andou, Antero aparecia por vezes na biblioteca da Quinta de Boamense, em Cabeçudos (Vila Nova de Famalicão). Com efeito, era aí que Alberto Sampaio passava horas a fio a ler e a investigar, em especial sobre a ocupação romana da Península Ibérica. O comentário de Antero de Quental ao amigo, nessa época, não deixa sombra
de dúvidas sobre essa amizade e cumplicidade entre ambos: “não conheço ninguém tão coca-bichinhos como tu – disse-me o Antero quando lhe falei na minha ideia de escrever sobre as vilas dos romanos no Norte de Portugal.” …
Ademais, a influência de Antero estaria ainda patente na poesia do poeta vimaranense Guilherme de Faria (1907-1929). Com efeito, Antero, a par de António Nobre, é indubitavelmente uma referência tutelar deste vate vimaranense, que, para além da poesia, tal como ele, acabaria por se suicidar. Os tercetos transcritos de um seu soneto do citado poeta vimaranense são claramente elucidativos: (…)
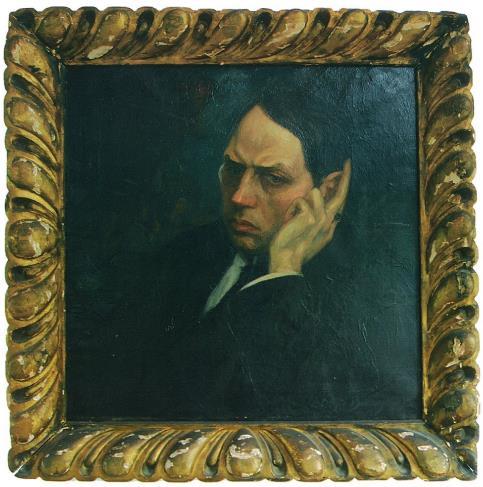
“Choram, dentro de mim, versos de Antero Emoção, Génio, Dor e Desespero, Tudo ajoelha, solene, pra rezar.
Impassível, o Sol vai esmorecer …

- Quem me dera, meu Deus, também morrer Para, amanhã, no azul – ressuscitar!” Se mais não fora, a ressurreição está garantida nas suas obras …
ALFREDO Augusto Lopes PIMENTA (1882-1950) nasceu na Casa de Penouços, em S. Mamede de Aldão, em 3 de dezembro de 1882, tendo sido perfilhado por Manuel José Lopes Pimenta que, precocemente, em 1895, o deixaria órfão. Aluno brilhante na escola primária, que lhe garantiu o Prémio da Sociedade Martins Sarmento (SMS), não obstante o tropeção no Colégio do Espírito Santo, o jovem Alfredo continuaria os seus estudos no Colégio de S. Nicolau, sob a orientação do mestre José Maria Gomes, após uma breve passagem por Braga. Jovem curioso como era, frequentaria ainda amiudadamente a Biblioteca da SMS, maravilhando-se com as leituras de Júlio Dinis, Tomás Ribeiro, Antero e Junqueiro e Baudelaire, entre outros e privando de perto com o Dr. Joaquim José de Meira e os seus filhos João e José, sua família tutelar e amiga. Retrato
Nesta altura, por volta de 1898, publicaria os primeiros versos no Comércio de Guimarães, rumando, no ano seguinte, a Coimbra para cursar Direito. Instala-se, então, na República da R. de S. João à sombra protetora de Luís de Freitas, prosseguindo a sua colaboração poética no Comércio de Guimarães e as suas leituras complementares, nomeadamente de Nietzche, Renan, Proudhon, bem como Stirner, em especial a obra “O Único e a sua Propriedade”, que seria determinante na sua formação cultural. São os tempos da sua propensão anarquista individualista, de feição aristocrática, que iniciariam a sua trajetória ideológica.
Datam também desta fase as primeiras publicações como “Um Alto Espírito visto à luz do Espiritismo” (1901) e, nos anos subsequentes, várias investidas jornalísticas e literárias, destacando-se “O Burgo Podre”, em parceria com Eduardo de Almeida, uma espécie de retrato da sociedade vimaranense da época. Concomitantemente, assume colaborações na ´” Ala Moderna”, fundada por Alfredo Guimarães e na “Revista Coimbrã”, em defesa da arte comprometida.
Em Coimbra acaba também por casar, em 1904, com Adozinda Júlia Correia de Meneses Soares de Brito Carvalho e pensa em desistir do curso de Direito e transferir-se para o curso Superior de Letras, em Lisboa. De facto, Alfredo Pimenta sente algumas dificuldades nos anos iniciais do curso de Direito e cogita mudar de rumo. Porém, por indeferimento do pedido de equiparação entre cursos, acaba por regressar a Coimbra e prosseguir Direito.
Assim, neste mesmo ano, e do ponto de vista político, passa a representar os republicanos de Guimarães, no Congresso do Partido Republicano Português, em Coimbra, e passa a colaborar no Povo de Guimarães como principal editorialista. Entretanto, mantém-se por Coimbra até à conclusão do curso de Direito em 1908. Neste período, porém, prossegue e diversifica as suas colaborações em várias revistas como na “Luz e Vida”, na “Era Nova” (semanário do Núcleo Anarquista dos Estudantes de Coimbra) e “A Voz Pública”, levado por Sampaio Bruno; e frequenta grupos republicanos, dos quais se acabaria por se afastar. Entrementes, em matéria de publicações saem do prelo “Para minha filha” (poemas), a propósito do nascimento da sua filha Maria Adosinda , “O Fim da Monarchia”, e “Factos Sociais”.

No transcurso do tempo, prossegue, então, a sua vida afetiva e familiar, alargada com o nascimento do segundo filho Alfredo Manuel e enriquecida com a cimentação de novas amizades como Carolina Michaëlis de Vasconcelos, um dos seus grandes apoios. Nesse tempo, envolve-se também nas lutas estudantis, especificamente na Greve Académica de 1907 contra os exames, integrado no grupo “Os Intransigentes”.
Os anos seguintes continua com trabalhos jornalísticos, quer na fundação do jornal “O Debate”, quer em colaborações nos periódicos como “O Norte” e tenta mesmo exercer advocacia, no Porto, quando vive em Matosinhos, por cerca de dois anos:
“tentei a advocacia. Sem jeito para ela, ao fim de oito dias, corri os taipais. Mas nesses oito dias recebi alguns clientes mandados pelos advogados ricos do Partido Republicano que reservavam para si os clientes que pagavam. Fiz tudo e tentei tudo para resolver o problema da minha vida. Cheguei a ter as malas feitas para ir para Moçambique. Foi o Teófilo Braga que me dissuadiu dessa aventura.”
Nasce, entretanto, a terceira filha Maria Gracinda e o escritor-jornalista muda-se para Lisboa, fixando residência no Dafundo. Aí, em 1911, assume, então, a chefia do gabinete do Ministro do Fomento no governo provisório de Duarte Leite e, nesse mesmo ano, as funções de professor provisório, no Liceu Passos Manuel. Como é óbvio, continua as suas publicações, destacando-se, entre outras, os livros “Aos Conservadores Portugueses”, “Política Portuguesa” (compilação de escritos teóricos do Partido Evolucionista), “Estudos Sociológicos” e “Na Torre da Ilusão” (poesia). Paralelamente inicia um ciclo de conferências diversas e escreve o manifesto do Partido Evolucionista, publicado em 1912, pelo qual se candidata a deputado às eleições suplementares, pelo círculo de Aldegalega, embora, do qual, um pouco mais tarde, se venha a desligar.
De facto, politicamente “sinuoso”, Alfredo Pimenta acaba por se ligar e desligar frequentemente das várias opções políticas da época, ao longo da sua vida, oscilando entre o anarquismo e o republicanismo e mais tarde pelos valores da monarquia e a defesa do salazarismo. Com efeito, Pimenta foi quase sempre contra, nunca pretendendo agradar a gregos e troianos e frequentemente batendo portas e abrindo outras. De tal forma que António José de Brito afirmaria que “Alfredo Pimenta foi vítima das suas virtudes: do seu desassombro e da sua verticalidade”, tendo pago um elevado preço “por ter convicções, por preferir quebrar que torcer”
Homem do contra, como alguns insinuam, ou homem de convicções pessoais como outros defendem, “Pimenta reconhece, no Presidente do Conselho o “Único” de Stirner e o “Super-Homem” de Nietzsche –escreve Barroso da Fonte no “Perfil biográfico de Alfredo Pimenta” (Revista de Guimarães, volume 111, de 2011).
Contudo, esta sua amizade com Salazar propiciaria a política de favores própria do regime, que se traduziria favoravelmente para Guimarães no restauro da Colina Sagrada, designadamente do Paço dos Duques de Bragança, na criação do Arquivo Municipal de Guimarães como estatuto distrital e no brilhantismo das Festas Centenárias de 1940.
Com efeito, após a publicação de “A Solução Monárquica”, situação que o magoa, pelo facto de se ter de separar de Junqueiro, (“em cuja companhia eu desejaria atravessar a vida inteira”), Pimenta avança para uma plêiade de publicações ideologicamente conotadas com os ideais monárquicos e acede a novas colaborações jornalísticas, designadamente no jornal “O Dia”, no “Diário Nacional” e, posteriormente, no “Correio

da Manhã” e no “Diário de Notícias”. Em paralelo, acaba por se candidatar a deputado por Guimarães, em 1918, renunciando em favor de Oliveira Salazar, que, eleito, se retira.
Ainda na esfera política, participa ativamente no projeto de lei para a revogação do divórcio, também subscrito por António Sardinha e mostra-se discordante da Monarquia do Norte. Como escreve em “A Revolução Monarchica” e afirma decisivamente”:
“eu sou um espírito positivo e não um espírito negativo; eu sou um conservador e não um revolucionário. Repugnam-me todos os actos de disciplina; quer dizer, repugnam-me todas as revoluções. Posso sofrêlas, não as fomento…”
Ora, é no âmago desta sua idiossincrasia e no contexto da causa monárquica, que vem a fundar “A Acção Tradicionalista Portuguesa” (1921), na qual fundamenta o primado da acção doutrinária sobre a política. Causa que o leva ainda a colaborar ativamente nas eleições municipais da época, sobre as quais perentoriamente assevera: “as eleições municipais de 1922 são obra minha. Posso afirmá-lo com orgulho”.

Funda ainda a “Acção Realista”, que passa a representar no Conselho Político da Causa Monárquica, do qual se demite cerca de dois anos depois; e continua a lançar-se ativamente em novas publicações, conferências, polémicas, nomeadamente com o Bispo de Bragança e com o general Pereira Bastos que o desafia para um duelo por causa de uma denominação toponímica a atribuir a uma artéria da capital … Pimenta era, de facto, um polemista nato, convictamente intransigente nos seus princípios e ideias.
Da Torre do Tombo ao Arquivo Municipal Uma viragem marcante ocorre entrementes na sua vida, em 1931, quando é nomeado 2º. Conservador da Torre do Tombo e simultaneamente Diretor do Arquivo Municipal de Guimarães, sem renumeração. Com efeito, conforme se escreve no nº. 3 do “Boletim de Trabalhos Históricos”, por ele fundado, “é criado, sem encargo algum para o Estado, o Arquivo Municipal de Guimarães, que será instalado em dependências da Sociedade Martins Sarmento, e que se destina a reunir, conservar, catalogar e facultar, oportunamente, à leitura e consulta públicas os documentos que fizeram parte do seu recheio” (artigo 119º. do Decreto nº. 19.952, de 27 de junho de 1931, publicado no Diário do Governo, I série, nº. 175, de 30 de junho de 1931).
Um arquivo que, segundo o artigo subsequente do citado decreto, deveria incorporar o acervo documental da extinta Colegiada de Guimarães, os documentos do antigo Recolhimento do Anjo, os processos crimes, cíveis e orfanológicos e livros dos cartórios e tabeliais extintos, dados por findos há mais de cinquenta anos. De igual modo, os livros paroquiais do concelho e todos os documentos, livros, processos e estatutos
provenientes de irmandades, corporações e repartições extintas.

É assim e deste modo que a abertura solene do Arquivo Municipal de Guimarães ocorre em 14 de outubro de 1934, no edifício dos antigos Paços do Concelho, que, após a sua morte, pela portaria de 29 de fevereiro de 1951, passaria, em sua honra e merecido tributo, a denominar-se Arquivo Municipal Alfredo Pimenta.
De facto, em Guimarães, a organização do Arquivo Municipal é uma das obras-primas de Alfredo Pimenta. Com efeito, cabe-lhe a organização de todo o vasto espólio recebido, bem como o grande e contributo para a criação do “Boletim de Trabalhos Históricos”, iniciados em janeiro de 1933, cuja publicação se mantém até à atualidade. Igualmente se deve o seu apoio a Alfredo Guimarães na criação do Museu Alberto Sampaio.
Atualmente e a partir de 2003, o Arquivo Municipal Alfredo Pimenta tem novas instalações, no edifício do palacete dos Navarros de Andrade, que, no ano seguinte, receberia da parte da Dr.ª. Teresa Pimenta a doação do espólio epistolar de Alfredo Pimenta, constituído por cerca de 20 mil peças, que, obviamente, enriqueceu o seu património.
Acrescente-se que, posteriormente, em 1948, Pimenta acabaria por ser promovido a 1º. Conservador da Torre do Tombo e, em 1949, nomeado como diretor do mesmo Arquivo Nacional, distinções que vem a acumular à de sócio fundador do Instituto Português de Arqueologia, História e Etnografia e na Academia Portuguesa de História, da qual vem a ser demitido por incompatibilidades de feitios e irreverência para com os estatutos e alguns académicos.
Todavia, consagrado a nível nacional como um notável historiador, em especial no âmbito do período medieval, Alfredo Pimenta deixar-nos-ia também um vasto e admirável legado patrimonial consubstanciado em cerca de 170 títulos, cultivados em diversificados géneros: a poesia, a política, a filosofia e a história, entre as quais sobressai a obra “Elementos de História de Portugal”, destinados ao ensino secundário.
Ademais, uma sucessão de bens seriam (ainda) ofertados em 1970 à Fundação Calouste Gulbenkian por parte de seus filhos, concretamente a sua Biblioteca constituída por cerca de 16.500 títulos, bem como o seu retrato pintado por Preto Pacheco.

Em sua memória, em 1982, é ainda instituído o “Prémio de História Alfredo Pimenta”, por iniciativa do seu filho, Dr. Alfredo Manuel Pimenta, que, sob a organização da Fundação Calouste Gulbenkian e da Câmara Municipal de Guimarães, leva a cabo o primeiro centenário do seu nascimento, concretizado com a edição de um número especial do Boletim de Trabalhos Históricos e uma exposição biobibliográfica, entre outras iniciativas. Evocação que ocorreria novamente, em 2002, aquando do cinquentenário da sua morte e se constata na Alameda Alfredo Pimenta, na freguesia de S. Paio, no centro da cidade.
A Casa da Madre de Deus, na freguesia de Azurém, foi o seu espaço de eleição. De facto, a casa “à beira do caminho, com uma capela em frente” é o seu sítio predileto. Uma casa que não só descreve com pormenor nas suas “Páginas Minhotas” (1950), como também em verso:
“É uma casa singela, como atesta Seu traçado rural e maneirinho, Onde a vida é, sem pretensões, modesta, Igual a muitas que há no Minho.
Não a rodeiam parques sem ter fim, Com lagos e repuxos de cristal. Há um tanque de granito, uma amostra de jardim, Uma fonte que canta, e é tudo para mim, Um campo de lavoura, um pinheiral.
Não se ouvem cisnes nem pavões, gritar Suas angústias quase iguais às minhas. E ouve-se apenas o cacarejar Das nossas vulgaríssimas galinhas”.

Com efeito é nesta casa e concretamente no seu quarto de trabalho, “mais cela conventual ou de prisão de que outra coisa, forrado a estantes que tocam no tecto, contém aquilo que já se chama, por aí, a minha livraria Mumadona. São perto de dois mil volumes de História, Teologia, Filosofia, dicionários, etc. É fechado nessa cela que passo os dias de minhas férias – com grave escândalo da família e dos médicos que vigiam a minha saúde”.
Porém, para além dessa casa que herdara em 1927 do seu tio Padre João Pimenta, de Penouços, Alfredo Pimenta teria ainda profunda devoção por Nossa Senhora da Madre de Deus, cuja capela se situa defronte
da sua casa, uma espécie de espaço sagrado e forte devoção:

“Em frente à minha casa, há uma capela Com adro e alpendre, e onde eu vou rezar À senhora que vive dentro dela E é a Nossa Senhora do lugar.

Às noites, uns minutos, à janela. Demoro-me sozinho, a conversar Humildissimamente com aquela Que é doce protectora do meu lar.
O que todas as noites lhe peço, Na infinita humildade do meu ser, E no profundo ardor do meu orar,
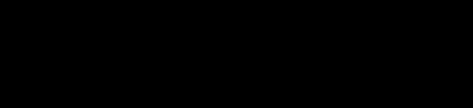
É de que a eterna paz de que careço Ma deis, vós, filhos meus, quando eu morrer Deixando-me ao pé dela repousar.”
Efetivamente, como pede neste soneto intitulado “Aos meus filhos”, datado de 1941, que se encontra colocado em azulejos na entrada na Capela da Madre de Deus, bem como declararia e solicitaria no texto testamentário de 19 de janeiro de 1939 (“peço aos meus amigos políticos e pessoais que façam tudo para que eu vá descansar à sombra das árvores da minha terra”), Alfredo Pimenta seria sepultado nesta capela em 22 de outubro de 1951, após transladação dos seus restos mortais provenientes de Lisboa, local onde faleceria em 15 de outubro de 1950.
Uma cerimónia de transladação à qual a Câmara Municipal se associaria e os vimaranenses em geral, que levaria o seu amigo Eduardo de Almeida a escrever no Notícias de Guimarães da época: “Guimarães, para e descobre-te. No caixão que passa, levado para a capelinha rústica da Madre de Deus, vai o cadáver de um Grande de Portugal, que é um dos mais notáveis Vimaranenses (…) Era um Sábio e um Artista (…) A obra escrita que esse homem deixou é um monumento, como uma catedral gótica (…) ele que foi prosador e poeta, filósofo e crítico, historiador e investigador, em tudo dos maiores no mundo latino. Guimarães: descobre-te, curva-te e deixa que os teus olhos assomem as lágrimas do sentimento.”
Com efeito, Guimarães esteve sempre no seu coração. Talvez por isso “Páginas Minhotas” foi o seu último livro, que não chegou a ver impresso, não obstante ter sido responsável por parte da revisão do texto,
antes do seu falecimento. Um livro que, segundo ele próprio, “trata de temas directa e indirectamente relacionados com a Província do Minho, e com a vida guimaranse, em especial”.
De facto, esta obra é um repositório de tradições, usos, costumes, tipos e figuras do Minho e Guimarães na primeira metade do século XX, abordando entre diversos aspetos a Sociedade Martins Sarmento e a Citânia, o vinho verde, a espadela, as romarias e quatro escritores vimaranenses: o poeta Guilherme de Faria, Martins Sarmento, João de Meira e Eduardo de Almeida.

Recorde-se que Guilherme de Faria, em 1922, com apenas 15 anos, publicaria as suas obras iniciais
“Poemas” e “Mais Poemas”, que de certa forma seriam apadrinhados e incentivados por Alfredo Pimenta: “Foi na redação do Correio da Manhã (…) que Guilherme de Faria me procurou para submeter ao meu juízo o original do primeiro livro. De calção e peúga, aquela criança maravilhava-me com a maneira como dizia os seus versos e com os versos que me lia. Perfeitos? Não. Aconselhei toques, supressões, demonstrando-lhe a razão do meu proceder, e acabei por lhe dizer: feito isso, publique (...)
Passados tempos, voltou com novo original. Depois de algumas observações disse-lhe: e agora não precisa de consultar ninguém, tem asas magníficas – voe à sua vontade! E saiu o segundo livro – Mais Poemas, que me foi consagrado”.
Acrescente-se que, para além do seu legado geral, muitas outras das suas obras estão relacionadas com a cidade-berço nomeadamente “Os Vimaranis Monumenta Historica”, “A Comissão administrativa da Câmara Municipal de Guimarães (1936) e “A Data da Fundação da Nacionalidade – 24 de Junho de 1128”, entre muitas outras.
Seguramente, não obstante os tempos políticos serem agora outros, um autor a ler, em especial na sua dimensão histórica e vimaranensista.
Álvaro Magalhães, o escritor dos mais pequenos, ou daqueles que já o foram, perfaz 40 anos de vida literária, tendo em conta e como referência as suas “Histórias com muitas letras”, o seu primeiro livro, editado em 1982, quando este autor e funcionário do Ministério da Justiça já contava 32 anos.
De facto, que filhos nossos se lembram (ainda) das crónicas divertidas da Coleção Vampiro Valentim, das personagens Picasso e van Goghou, ou dos protagonistas Jorge, Joana e Joel (três Jotas), da coleção de aventuras Triângulo Jota, lidas há mais de duas décadas? Ou que netos nossos, mais recentemente,
Com efeito, nascido no Porto rural, na freguesia de Paranhos, Álvaro Magalhães conserva da sua infância a sua faceta de “brincador”, ainda que a brincadeira seja para ele uma coisa séria. Efetivamente, tecidas pela capacidade inventiva de procurar o outro lado, numa espécie de realidade alternativa à realidade convencional, as suas estórias são sobretudo um “encontro com a literatura que tem de ser como um encontro amoroso”.
Deste modo, Magalhães, na sua viagem de circum-navegação à volta das letras, dos livros e da criatividade, lega-nos já cerca de 120 títulos publicados, que abonam da sua capacidade efabuladora e poética. Capacidade inventiva que, na sua adolescência, se revelaria ainda na criação de jogos lúdicos e didáticos e, posteriormente, na produção de programas televisivos como concursos e “talk shows”, entre os quais se destacam “Avós e netos” ou “A Ilha do Tesouro”, ou escrita de séries como “Os Andrades”, em parceria com o grande amigo Manuel António Pina, que, conjuntamente com Ilse Losa, o nascimento de sua filha e o incentivo do seu professor de Português, o “setôr” Órfão, o impulsionariam para a escrita dedicada aos mais novos. Escrita que iniciaria com sucesso, como o comprova o facto dos seus primeiros livros terem sido premiados pela Associação Portuguesa de Escritores.
Distinções que posteriormente acumularia ao longo da sua carreira literária, como os prémios do Ministério da Cultura (1981 e 1985), o Grande Prémio da Literatura para Crianças e Jovens, com o livro “Hipopóptimos uma história de Amor” (2002), o Prémio da Sociedade Portuguesa de Autores, bem como a nomeação para a lista de Honra do “International Board on Books for Young People” (IBBY), e a integração do livro “O limpa-palavras e outros poemas”, na Honor List do Prémio Hans Christian Andersen (2004). Acrescentese que muitas das suas obras constam da lista do Plano Nacional de Leitura (PNL) e das aprendizagens essenciais do Português, vários deles traduzidos em diversas línguas, que proporcionariam imensos convites e deslocações a escolas nacionais.
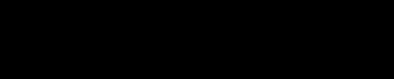

Com efeito, a sua qualidade e versatilidade é única. Realmente, desde a crónica no jornal desportivo “O Jogo”, a uma comunicação coloquial e académica, até à escrita de uma peça de teatro para crianças, Álvaro Magalhães não se fez rogado nestes seus 71 anos de vida. Dedicação às letras que passaria também pela criação e direção da editora Gota de Água, que publicaria entre outros autores António Franco Alexandre,
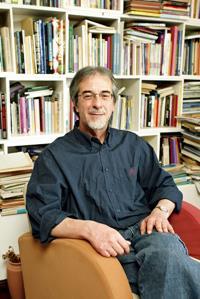
António Osório ou Al Berto.
Em síntese, um caso de sucesso que, como conta, se deve a uma orelha verde: “Claro que muitas vezes, sou apenas um adulto corrompido pela usura do mundo, mas nessa altura uso a minha orelha verde. É a orelha esquerda. Essa orelha ouve a linguagem das árvores, dos pássaros, das nuvens, das pedras, enquanto a outra, a direita, apenas ouve o que lhe interessa: as coisas úteis e exactas, as coisas que servem para alguma coisa, ou seja, a prosa da vida comum, quotidiana. Histórias fantásticas, maravilhosas, poemas, nada disso é com ela, são coisas que lhe soam estranhamente. Essa orelha verde ficou-me dos meus tempos de menino, foi a mais preciosa herança e continua a entender os mais novos e a ouvir e a ver as coisas que os adultos já não conseguem distinguir.
É essa orelha, quer dizer, essa abertura à vida, que me permite aceder à totalidade mágica da existência e entender os mais jovens como se fossem companheiros da minha própria infância e da adolescência (…)

E pronto, foi assim que tudo se passou. Quanto ao que se vai passar, apesar de já ter escrito muitos livros, me parece que ainda estou a começar. Todos os dias escrevo e todos os dias tenho novas ideias para novas histórias. Só tenho medo de não ter tempo para as poder contar.”
Ficamos à espera de mais …
Poeta no feminino ou mulher-poeta, como gostava de se apresentar, Ana Luísa Amaral faleceu a 6 de agosto de 2022, com 66 anos de idade, poucos dias antes da sua prevista presença e homenagem na Feira do Livro do Porto, nesse mesmo mês de agosto, bem como na edição deste ano do Escritaria, realizada em Penafiel, na segunda quinzena de outubro. Ironicamente, no ano em que uma antologia da sua obra poética (1990-2021), reunindo cerca de 17 títulos seus, intitulada “O Olhar Diagonal das Coisas”, seria publicada pela Assírio & Alvim.

Ana Luísa Amaral, in Público de 06/08/2022
Nascida em Lisboa a 5 de abril de 1956, mas vivendo no Norte desde os nove anos, em especial Leça da Palmeira, que tanto amava (“Realmente o Porto é a minha cidade. Sou do Porto, uma cidade maravilhosa”), Ana Luísa Amaral foi profissionalmente professora e investigadora da Faculdade de Letras da Universidade
do Porto, mas sobretudo ficaria conhecida entre nós como uma das vozes mais relevantes da poesia portuguesa e um nome central do património cultural construído no feminino.

Com efeito, iniciando-se poeticamente com “Minha Senhora de Quê?” em 1990, aos 34 anos, Ana Luísa Amaral conciliaria sapientemente a sua carreira universitária com a sua produção literária e a intervenção cívica, que não só se traduziria na poesia como também no ensaio (“Arder a palavra e outros incêndios” –2018) e outros trabalhos como a tese de doutoramento sobre “Emily Dickinson” (1995) e outros em torno das “Novas Cartas Portuguesas” (2011) e o “Dicionário de Crítica Feminista”(2005), este último em parceria com Ana Gabriela Macedo, ambos demonstrativas do seu empenhamento em causas culturais, sociais e políticas, em prol da igualdade e da solidariedade social. Porém, a autora publicaria ainda obras infantojuvenis como “Gaspar, o dedo diferente e outras histórias” (1999), “Lengalenga de Lena, a hiena” (2019) e “A História da Aranha Leopoldina” (2000 e 2010) adaptada a televisão e a teatro pela Companhia Assédio, com representação no Teatro de Campo Alegre. Destacam-se ainda o romance “Ara” (2013) e traduções diversas de Shakespeare, Emilly Dickinson, Louise Glück, John Updike Margaret Atwood e Patricia Highsmith, entre outros. Outrossim, com Luís Caetano, o seu fervor na divulgação da poesia do mundo, sobretudo através do programa “O som que os versos fazem ao abrir”, emitido na Antena 2.
Criação literária que, como confessa, teria os seus sortilégios: “Sempre adorei canetas de tinta permanente, fascinam-me desde criança. Tenho várias. Esta, que me foi dada por uma grande amiga chamada Cristina, é uma Pelikan de aparo macio. (…) Com ela tenho o menos convencional. Sempre que viajo, ela vai comigo e, a seu lado, viaja um tinteiro de tinta preta. Preciso desta cor para um poema, tal como não sou capaz de escrever diretamente no computador: preciso de sentir essa espécie de romance entre a mão, a caneta e o papel. Uma vez fiz um poema chamado “As soluções perfeitas”, que diz assim: “As munições/perfeitas/Papel quase timbrado, /caneta de um aparo muito leve, /e a noite em madrugada /ou equilíbrio//Com um aparo/assim/pode o sol desistir/ e os ramos verdes tornarem-se/mais perto//Com munições tão fartas, /está a solução/pronta/e alcalino:/o verso.
É claro que este poema foi escrito com esta caneta”.
Produção literária que valeria também inúmeras distinções, entre as quais o “Prémio Literário Casino da Póvoa de Varzim/Correntes d’Escrita (2007), com o livro “Génese do Amor” (2005), o “Grande Prémio de Poesia da Associação Portuguesa de Escritores” (2008) pelo livro “Entre dois rios e outras noites” (2007), a que ajuntaria galardões internacionais como o “Prémio de Poesia Giuseppe Arcebi, em Itália e o “Prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-Americana “(2021), reconhecimento e préstimos que culminariam com a condecoração a título póstumo do grau de Comendador da Ordem de Sant’Iago da Espada pelo Presidente da República (2022) e a tradução da sua obra em várias línguas.
Quanto à sua obra poética que tende para a contenção elíptica e explosiva da palavra, exprime-se pela
“exaltação do mínimo” (Martelo, 2002), que António Guerreiro afirma ser “feita de referências ao mundo material, quotidiano e muito doméstico (pelo menos nos seus primeiros livros), permitindo equivalências entre os gestos funcionais mais prosaicos e a poesia («E descascar ervilhas ao ritmo de um verso; a prosódia da mão, a ervilha dançando/em redondilha»), mas no entanto abrindo horizontes mais elevados”.
Poemas que, segundo o opinante citado, “são em geral, condensações imagéticas e apelam à visão, a um ocularcentrismo na relação com o mundo. A sua poesia é a criação de um espaço vital, de uma morada habitável (…) e encontra a sua expressão suprema nas representações da casa e da domesticidade:

A minha pátria/é esta sala que dá para a varanda”.
Quiçá a sala e a varanda de Leça da Palmeira, da qual visualizava os horizontes poéticos do Oceano Atlântico, uma vez que “o seu mundo é o da plasticidade que dissolve fronteiras e o da subjetividade que define um modo de ver e de habitar”.
Deixamos este seu “Testamento”, poema homónimo incluído em “Minha Senhora de Quê?” que é dirigido à sua filha, e às suas filhas, e a todas as filhas vindas e por vir:
“Vou partir de avião E o medo das alturas misturado comigo Faz-me tomar calmantes E ter sonhos confusos
Se eu morrer Quero que a minha filha não se esqueça de mim Que alguém lhe cante mesmo com voz desafinada E que lhe ofereçam fantasia Mais que um horário certo Ou uma cama bem-feita
Dêem-lhe amor e ver Dentro das coisas Sonhar com sóis azuis e céus brilhantes
Em vez de lhe ensinarem contas de somar E a descascar batatas” (…)
Não partiu de avião, apenas partiu para mudar de morada, deixando o seu testamento…

Vítor Aguiar e Silva (1939-2022), Prémio Camões em 2020 e notável estudioso camoniano, foi um emérito professor de alguns de nós, quer na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, quer na Universidade do Minho, onde lecionou até à sua aposentação, em 2002. Nome maior da teoria da literatura e dos estudos literários, deve-se-lhe a monumental “Teoria da Literatura” (1967), obra científico-didático de referência nos estudos da especialidade, que ao longo dos anos seria objeto de sucessivas e significativas reformulações.

Ademais, Aguiar e Siva foi também uma figura fundamental dos estudos camonianos, quer na lírica (como “Notas sobre o Cânone da Lírica Camoniana” - 1968) quer na epopeia, (como “Significado do Episódio da Ilha dos Amores na Estrutura de Os Lusíadas” - 1971); e ainda sobre Luís de Camões, como o premiado “Camões: Labirintos e Fascínios” (1994) ou o “Dicionário de Luís de Camões” (2011).
Vítor Aguiar e Silva foi também influente personalidade no âmbito das políticas de promoção da língua e cultura portuguesas. Com efeito, esteve na génese do Instituto Camões, coordenou a Comissão Nacional de Língua Portuguesa e foi membro do Conselho Nacional de Cultura, sendo ainda conhecida a sua oposição veemente ao Acordo Ortográfico de 1990, que o levaria a subscrever a petição “Em Defesa da Língua Portuguesa contra o Novo Acordo Ortográfico”.
Nascido na freguesia de Real, em Penalva do Castelo, Vítor Manuel Aguiar e Silva, começaria os seus estudos no Liceu de Viseu e licenciar-se-ia em Filologia Românica na Universidade de Coimbra, onde se doutorou e iniciou a sua carreira docente como assistente do professor Costa Pimpão, atividade profissional que prosseguiria na Universidade do Minho a partir de 1989. Nesta instituição universitária, na qual foi professor catedrático do Instituto de Letras e Ciências Humanas, exerceria ainda funções de vice-reitor e fundaria e dirigiria o Centro de Estudos Humanísticos e a revista Diacrítica.
Autor premiado com o Prémio Camões (2020) pela “importância transversal da sua obra ensaística, e o seu papel ativo relativamente às questões da política da língua portuguesa e ao cânone das literaturas de língua portuguesa”, o júri reconheceria ainda que “no âmbito da teoria literária, a sua obra reconfigurou a fisionomia dos estudos literários em todos os países de língua portuguesa (…) Releve-se igualmente o importante contributo dos seus estudos sobre Camões”.
Porém, para além desta prestigiada distinção, Aguiar e Silva seria galardoado com o Prémio Vergílio Ferreira pela Universidade de Évora (2002), o Prémio Vida Literária da Associação Portuguesa de Escritores, o Prémio D. Dinis da Casa Mateus (2009), a que acrescentaria o prémio de ensaio Eduardo Prado Coelho (2010), obtido como o livro “Jorge Sena e Camões, Trinta Anos de Amor e Melancolia” (2009) e o Prémio Vasco Graça Moura de Cidadania Cultural (2018). Paralelamente, o autor e professor seria agraciado pelo Presidente da República Jorge Sampaio com a Grã-Cruz da Ordem da Instrução Pública, em 5 de outubro de 2004.
Já em 2021, a Associação Portuguesa de Escritores eternizaria o nome de Vítor Aguiar e Silva através do prémio “Vida Literária Vítor Aguiar e Silva”, que já vinha a ser atribuído desde 1992. Entretanto, data de 2020 o seu último livro intitulado “Colheita de Inverno”, que ao longo das suas cerca de 500 páginas, congrega os seus principais trabalhos investigativos no contexto dos estudos camonianos e teoria da literatura.


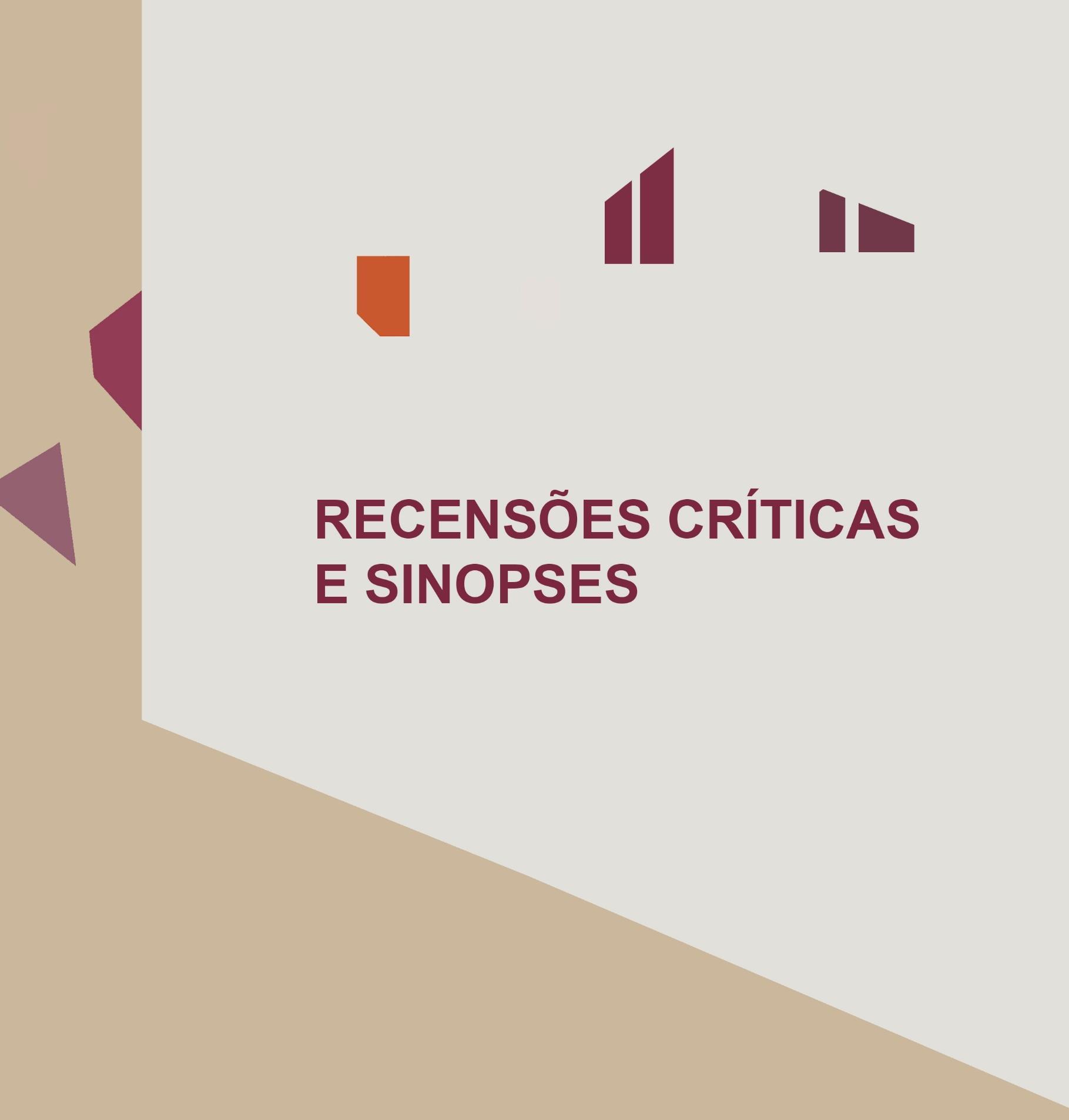
Elencar o que se vai produzindo sobre Guimarães e pelos vimaranenses de nascimento ou, por opção, é o objetivo desta rubrica de recensões e sinopses, propiciadoras de sugestões de leitura.
E, como sempre, há pano para mangas, nas várias dimensões e tamanhos. Da prosa à poesia, do ensaio ao romance, da História às estórias, a produção literária acerca das nossas coisas e gentes continua a avançar anualmente.
Boas leituras…

“O Clube d’O Rei” – 100 Anos 100 Cartoons” é o título do livro de Miguel Salazar lançado no passado dia 19 de dezembro de 2021, na Sociedade Martins Sarmento.
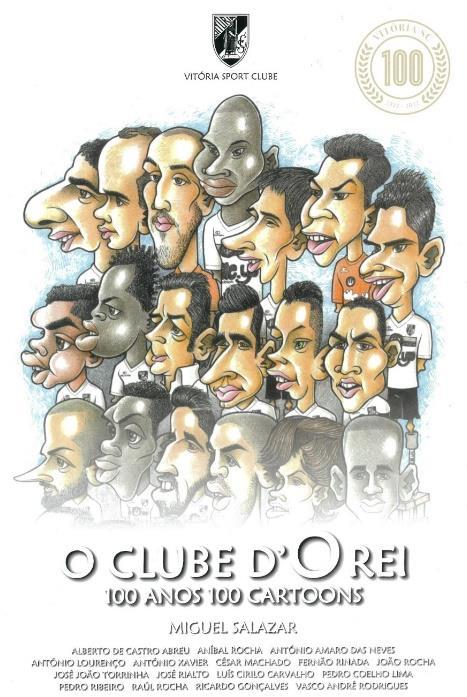
Uma edição do Vitória Sport Clube, com cerca de 265 páginas e a seleção de 100 cartoons, que marca o início das comemorações do centenário do Vitória que, além de caricaturas e cartoons do autor, engloba diversas colaborações textuais, entre os quais António Amaro das Neves que escreve sobre as décadas da formação (1922-1932) e da afirmação regional (1942-1952) e Alberto de Castro Abreu, que aborda a “Década de Chegada ao Topo” (1942-1952).
De facto, estruturado em várias décadas de vivências e memórias, a obra centra-se subsequentemente na chamada década de instabilidade, coincidente com os anos 1952-1962, que Raul Rocha relata. Uma temporada também ligada à ascensão e queda do hóquei de patins vitoriano, que António Xavier revive e conta. Mas, uma década de instabilidade que se transformaria numa década de afirmação nacional, entre 1962-1972, como a perspetiva César Machado no relato dos factos ocorridos.
Por sua vez, caberia a Luís Cirilo Carvalho focar a década de transição, compreendida entre 1972-1982. Inicia-se também aqui a abordagem da história de outras modalidades e prossegue-se a saga do clube nas duas últimas décadas do século XX: os anos da afirmação europeia (1982-1992), por Ricardo Gonçalves e a década dos regressos (19922002), por José João Torrinha.
Por seu turno, o século XXI, nestas duas décadas mais próximas dos mais jovens, acolhe mais colaborações, mais diversificadas. De facto, nestes anos de 2002-2012, denominada por Pedro Ribeiro como a década dos extremos, avultam ainda textos sobre outras modalidades desportivas como o polo aquático, o renascimento e a consagração do voleibol por Aníbal Rocha, a natação do Vitória por João Rocha e as origens do basquetebol por António Lourenço.
Concomitantemente, como ponto valioso de uma bola ao cesto, o texto “A Divina Comédia d’Antes … Durante e Depois”, que narra (epicamente), à laia de Dantes Alighieri, em 4 cantos (tantos quantos os do retângulo do jogo) e em 12 versos (tantos quantos os jogadores mais o 12º. Jogador das bancadas), a história

do Vitória de 2005 a 2007, do sobe desce de divisão, passando desde o Inferno de Pacheco e Pontes, ao Purgatório de Norton de Matos, até ao Paraíso de Mestre Cajuda.

Como é óbvio, os anos de 2012-2022, que Vasco André Rodrigues denomina de década da Taça, cujo apogeu culmina com a conquista da Taça de Portugal, em 26 de maio de 2013, merecem particular destaque. Com efeito, datam desta época a operação bem-sucedida, sob o nome de código “Em busca da Taça Perdida”, cujo plano de ação o coronel Rinada conduziu até ao Jamor, com o recurso a várias fases e (lícitas) manobras táticas. Um divertido texto operacionalizado por Fernão Rinada, cronicando mais uma conquista.
Fecham os 100 anos de vida, com muitos mais para durar … a história de outras modalidades, visões sobre o basquetebol rumo ao futuro, de autoria de António Lourenço e cosmovisões sobre o polo aquático rumo às estrelas, que Pedro Coelho Lima vaticina terem água…
Um índice remissivo antroponímico de cartoons e quados sínteses da participação do Vitória das competições europeias complementam a obra, cuja mais-valia é sobretudo o conjunto das caricaturas e cartoons de Miguel Salazar sobre as personalidades e ocorrências do quotidiano do clube vitoriano, que, enriquecidas pelos citados autores dos textos, dá a este livro, como o cartoonista cita no seu prólogo, “uma perspetiva diferente, mais aligeirada e bem disposta, com alguma sentido de humor, daquilo que foram estes 100 anos de Centenário”.
Em súmula, um livro para adquirir, divulgar e ler por todos os que desejam conhecer a história e os rostos dos seus conquistadores e que só posteriormente poderá e deverá ser colocado na estante dos vindouros.
“Viagem pelo topo do mundo” de Joaquim Salgado Almeida, também conhecido por SAL, é uma pequena narrativa visual de edição do autor, que conta a aventura por via terrestre, entre Deli e Leh, percorrida durante várias etapas, ao longo de 12 dias.
Uma narrativa feita a partir de imagens, iniciada em 20 de setembro de 2014 por oito viajantes, que após escala em Frankfurt voaram até ao aeroporto Indira Gandhi, na capital da Índia, cidade do primeiro dia de visitas.
Um itinerário que após “mil odores e tantas cores, calor, alarido e gente, muita gente”, em Deli, rumaria por via ferroviária à cidade de Amritsar, a cidade santa dos sikhs e do Templo Dourado. Iniciava-se a caminhada para o teto do mundo, em viaturas todo o terreno, inicialmente até Dharamshala, a cidade exílio do Dalai Lama, na encosta ocidental dos Himalaias, conhecido como o “Pequeno Tibete”.
Uma aventura paisagística, cultural, religiosa por estradas perigosas, montanhas, ravinas, cascatas, pontes suspensas e mosteiros alcantilados, que a câmara fotográfica foi registando e o texto tenta complementar. Mas também uma odisseia por longos vales cortados por rios, que de Manali a Keylong levou os viajantes a aldeias típicas, acima dos 4 mil metros de altitude e a picos vestidos de gelo, próximos dos seis mil metros, onde os Himalaias revelam toda a sua grandiosidade.

Uma viagem que prosseguiria ainda por Sarchu, com uma pausa a 4890 metros para festejar um aniversário com um especial bolo que mais não era que um prato de maçãs encimadas por uma vela e uma pernoita do outro mundo, numa tenda a 4400 metros, que, no dia seguinte, é assim retomada e contada: “A viagem continuou feita de espanto e vislumbre”, rumo a Leh.” Novas subidas, outros vales, desfiladeiros (…) caprinos selvagens camuflados nas falésias. (…) Novo posto de controlo, muitas tendas, mulheres nas bancas, homens a fazerem tijolos e a guardarem bosta de Yak para combustível, já que ali não há vegetação. Muitos corvos (…) Atravessado um magnífico desfiladeiro, paramos junto ao Indo. Outro controlo. A partir dali a estrada ao longo do “Nilo de Landaq” depressa nos levou até Leh”.
Com Caxemira à vista, entre stupas e pedras com mantras, Leh com seus palácios e mosteiros budistas, tem o Paquistão bem próximo e é região de frequentes conflitos. Dali os viajantes deixariam o ar rarefeito e regressariam a Deli, onde visitaram o Akshardham, o maior templo hindu do mundo e rumariam ao aeroporto
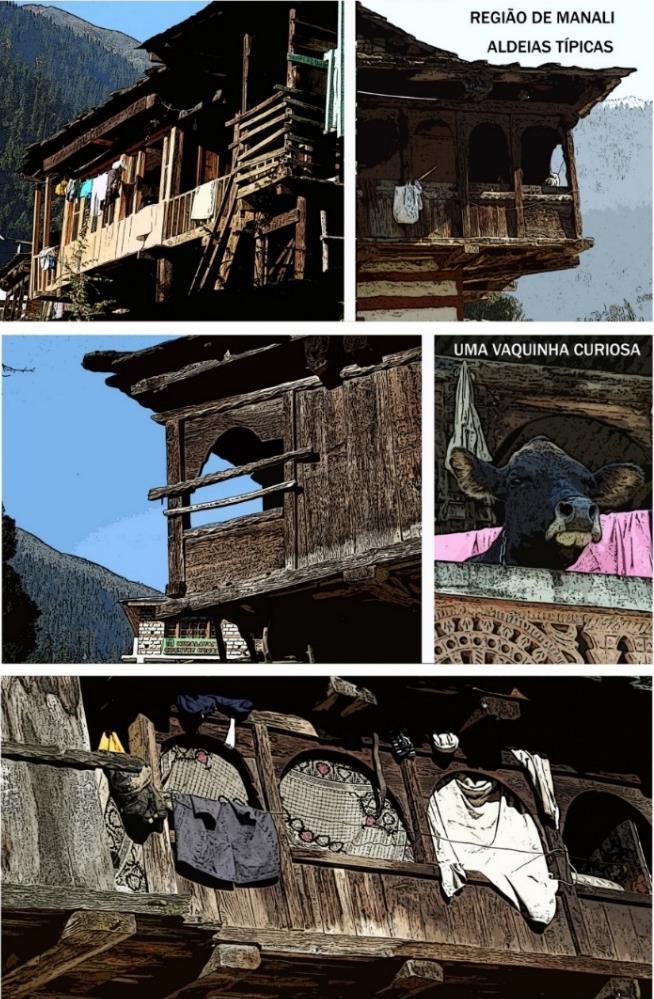
e ao regresso.
Em súmula, um pequeno livro de cerca de setenta páginas que concilia belas imagens com um texto explicativo e oportuno sobre lugares, gentes visitadas e peripécias vivenciadas, que dá conta através de uma narrativa simples e linear de (mundi)visões fotográficas, memórias e registos deste topo do mundo.
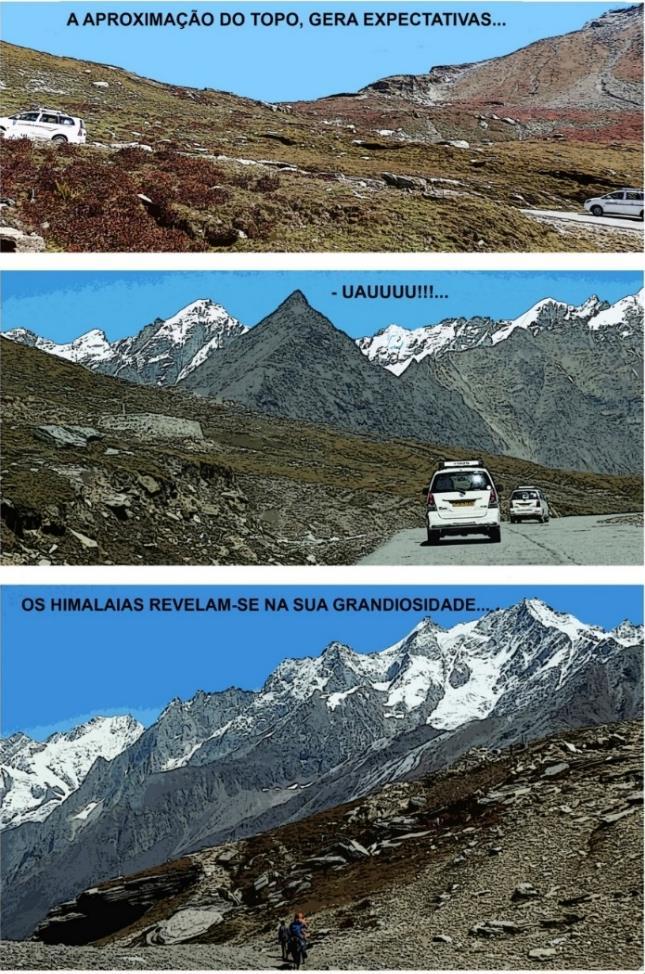
Uma narrativa visual de quem anda, vê e partilha: “Gosto de andar e ver. E ver não é só olhar.
Das viagens, trago memórias e registos
Das fotografias, construo Narrativas simples e lineares, Diários de viagens”.
O título em epígrafe refere-se a um livro do farmacêutico vimaranense Manuel José de Passos Lima, editado pela Casa Sarmento que, na altura, por volta de 1873, procurava esclarecer a população dos benefícios da vacinação contra a varíola.
De facto, em Guimarães, quando corria o ano da graça de 1873 e o concelho sofria uma grave epidemia de bexigas, o citado boticário vimaranense da Farmácia da rua Travessa de Santa Rosa de Lima, responderia ao apelo de colaboração suscitado pelas autoridades, redigindo um folheto alusivo à epidemia, que segundo as suas palavras funcionaria como “um regulamento para guiar o povo sobre os meios que deve lançar mão,

em quanto o médico não chega para socorrer os enfermos atacados deste flagelo”.
Com efeito, em resposta a um desafio da autoridade administrativa que “convidou os farmacêuticos para uma reunião a fim de prestarem todo o auxílio aos doentes atacados das bexigas, cuja epidemia grassava com intensidade”, assim o escreve e informa o paleógrafo vimaranense João Lopes de Faria nas suas “Efemérides Vimaranenses”, o boticário Manuel José de Passos Lima responderia à chamada, com um folheto alusivo que abordaria as epidemias, as vacinas, e os socorros urgentes para os doentes da varíola.
Ora, é acerca deste trabalho interessante, com apenas 64 páginas e barato (4 euros) que a Casa Sarmento traz à estampa, com algum sentido de oportunidade, o tema em questão, uma vez que nos tempos que correm grassa a pandemia da Covid-19 e suas variantes. Ademais, tal como no passado, perpassam e subsistem algumas dúvidas (ainda que minoritárias) sobre a eficácia das vacinas. Porém, como avisa o boticário vimaranense, “mas pelo contrário, é preciso que o povo nos acredite, por que tomamos Deus por testemunha, n’esta hora em que nos ocupamos com o bem geral da humanidade, - e a vacina foi muito discutida, muito contrariada, e os seus opositores caíram desarmados diante da infinita imensidade dos factos; - está acreditada em todo o mundo civilizado, como um dos melhores benefícios que Deus enviou do céu.”
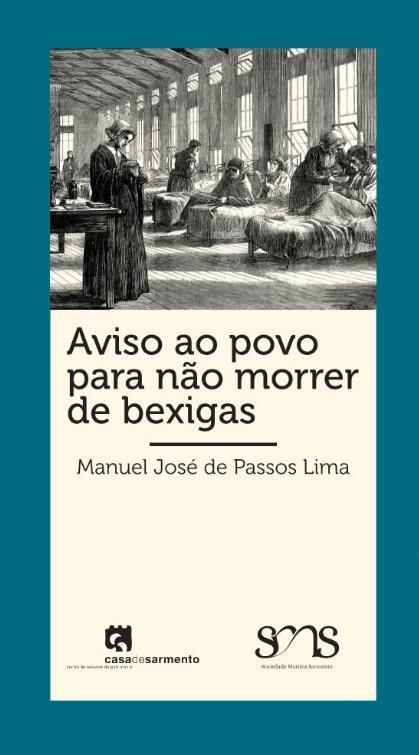
Portanto, uma advertência pertinente, recordando os ensinamentos do passado, que sapientemente e à defesa esbate eventuais suspeições surgidas, numa espécie de aviso à navegação: “Oxalá que este trabalho seja recebido como as minhas intenções o ditaram, sem a menor sombra de interesses, dando-me por bem pago se tiver a ventura com ele salvar a vida a uma só pessoa; unicamente movido pelos sentimentos de caridade, que nos recomenda Jesus Cristo pela boca de S. Paulo, quando diz: - Tudo o que fizerdes, fazei-o em boa mente, como quem o faz pelo Senhor” …
Uma pequena obra que tem a virtualidade de demonstrar que alguns dos debates de hoje já preocupavam os nossos avoengos, cujas respostas podem ajudar-nos a vivenciar o presente.

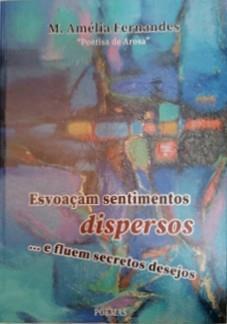
“Esvoaçam sentimentos dispersos…e fluem secretos desejos “é o título do novo livro de Maria Amélia Fernandes, conhecida como “a Poetisa de Arosa”, tecido no tear da poesia, em formas polícromas. Outrora operária têxtil na Fábrica de Fiação da Abelheira, durante 30 anos, Amélia fia seus versos com denodo e trabalho, cantando o amor e a natureza, numa urdidura simples e fresca.
Com efeito, tecelã de versos com outras linhas de entrelaçamento, a tecedeira de outrora trama, agora, em seu tear poético tessituras líricas, rendilhadas por belas metáforas e imagens, em versos que são peças tecidas de amor, com raízes panteístas. No fundo, têxteis-lar tecidos de amor, vivenciados plenamente de corpo e alma (“teu corpo é um abrigo/Quando me deito contigo”), que, por vezes, inebriam como o exprime no poema “O Sonho dos teus olhos”: “Embriago o teu corpo / De desejos de sal e fogo/Rasgo as mãos de agonia/Sufoco, na ânsia de teu ser …/Adormeço em teu querer …”.

Amores que, porém, como também expressa no poema “Gastam-se gestos”, navegando ao sabor das marés, nem sempre chegando a bom porto: “em teus lábios plantei o amor, /em teu peito desbravei uma flor/E naufraguei nas marés por ti contidas/Onde bebi emoções por mim sentidas”.
Com efeito, há na sua poesia o canto do amor em várias formas, cores e sons, desde o amor amante ao amor familiar e amigo, mas sobretudo o amor à vida e à natureza. Uma poesia enraizada nos elementos naturais e primordiais, como a terra, a água e o fogo, em que a imagética natural, ou inerente à natureza das coisas, se pretende conjugar com a natureza humana: “os teus olhos são pirilampos/Brilhantes na noite escura;/Dois faróis bem rutilantes, / Navegando em alto mar”.
Poemas que, por vezes, se aproximam do registo popular, bebendo na quadra o seu néctar inspirador como os excertos dos poemas “Leveza” ou “Penso” ilustram:
“Pirilampo no celeiro Rasgam veias à espada São cetim clareira E teu peito a jangada.”
“Ouvi-te chamar por mim, Num eco que vem de longe; Com beijos de jasmim Feitos de linho e cetim.”
Todavia, para além do amor, pontua na poesia da autora a problemática da vida, expressa num registo simples, mas intenso, como é evidente nesta passagem:” A vida nem sempre/é feita de sorrisos. /Por isso adoro recordar/os poucos, mas maravilhosos/Momentos já vividos, /Que guardo, bem fechados/Numa gaveta de minha alma/Fechados num postigo”.
Uma poesia que se apraz com pouco e quanto baste, desde que vivenciada em plenitude numa vida vivida em comunhão com a natureza, como esta passagem de “Vaguear sem ver” claramente dilucida: “Desliza uma sinfonia/No esvoaçar das borboletas/Haja paz, haja alegria ao som de mil trombetas! /Violetas, joaninhas …/Como as busco no quintal/ Quando o sol-pôr se avizinha.”
Mas também uma poesia que expressa inquietações, o sentido de ser mulher e “Mãe Guerreira”:
“És mar, és sol, és tempestade, És gaivota que me leva à outra margem Minha torre de marfim, tão rendilhada, Que minha alma aquece, só de pensar em ti Criança ausente, que se fez só de ternura Como o sol a brilhar ao meio dia, Tu és amor, derramado em candura … Minha mãe, em ti repouso: és minha guia!”
Nascida em 1956, Maria Amélia Fernandes, mais conhecida como a Poetisa de Arosa, uma freguesia de Guimarães contígua à Póvoa de Lanhoso, Amélia lega-nos mais um livro, entre muitos, após o seu início com “Ondas de Palavras”, em 1985. De facto, operária têxtil e posteriormente licenciada em Estudos Artísticos e Culturais, na Universidade Católica de Braga, Amélia tem, no seu acervo literário, mais de uma dezena de obras de poesia e alguns contos de fantasia para as crianças, já editados.
Como tal, seria distinguida com a Medalha de Mérito Cultural pela Câmara Municipal de Guimarães, em 24 de junho de 2005, e seria homenageada pela Faculdade de Filosofia da Universidade Católica de Braga, em maio de 2005, pela sua sensibilidade artística e como ex-aluna da instituição, quando na altura apresentou a obra “Sinfonia de Saudade”.
“Esvoaçam sentimentos dispersos…e fluem secretos desejos” é mais um voo de liberdade criativa, a ser adejado ao sabor das brisas e dos bons ventos …

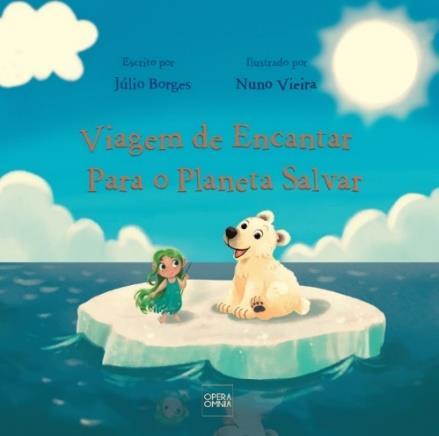 Júlio Borges
Júlio Borges
O pequeno Urso Branco, passeando pelo gelo quebradiço e fino, decide fazer algo para combater as altas temperaturas que se fazem sentir no Polo Norte. Partindo para sul, navegando um enorme bloco de gelo, encontrará amigos que o ajudarão a sensibilizar as consciências dos humanos, os causadores das alterações climáticas.
O clima já não é O que noutros tempos foi, Reclamam os animais do Ártico Que o calor o gelo destrói.

Um ursinho corajoso Decide percorrer o mundo, Combater o aquecimento da Terra, Alertando para o degelo perigoso.
Pelo caminho encontra amigos Que com ele irão iniciar Uma aventura fantástica Para o planeta salvar
De autoria de Paulo César Gonçalves, com ilustrações de André Marques, “A lanterna que aquece o mundo” é um pequeno livro de apenas 26 páginas, de capa dura, mas grande de generosidade e abnegado nas páginas macias da partilha. Uma narrativa de esperança para os mais jovens e para todas as idades, que, alegoricamente, nos faz cavalgar através do cavalo-de-pau Celestino, do imediato para o mediato, da realidade terrena para a magia possível, da indiferença para a solidariedade.
Com efeito, o cavalo-de-pau Celestino (aquele da cor do céu), enquanto símbolo de uma infância afetiva e feliz, encarna esse espírito da solidariedade humana e humanismo: “os únicos que poderão transformar as novas vidas”.
Novas vidas que, 25 anos mais tarde, conduzem o filho de José e de Maria (de novo as ressonâncias onomásticas) a reencontrar Celestino, levando Leonardo a perceber que a dignidade humana ou direito a ela, bem como os valores da repartição solidária devem prosseguir entre vizinhos, fomentando a verdadeira lareira e lanterna que aquece o mundo: a generosidade.
O cavalo-de-pau Celestino, brinquedo afetivo de infância, assume-se assim como “um dos espíritos de Natal”, no seu sentido mais profundo: “Entrega-me ao teu vizinho, na véspera de Natal e explica-lhe, dentro do possível, o seguinte: diz-lhe para que me guarde durante um ano, e, na próxima véspera Natal, me entregue a um novo vizinho, e assim sucessivamente. Sempre com discrição. Que não se quebre o ciclo. E, acredita, eu hei de voltar até ti.”
E voltou, “no dia em que Leonardo se despediu deste mundo”…
Acredita-se, porém, que “um dia, Leonardo voltará, talvez como cavalo-de-pau. Ou não, porque já há Celestino. Talvez como pião. Ou bola. Ou um papagaio de papel.

Quem saberá?”
À laia de memórias, o livro em epigrafe do vimaranense Bernardino Oliveira Pina, relembra estórias, episódios, vivências, pessoas e experiências, compreendidas entre a cidade-berço, a guerra colonial em Angola e a intensa e bem-sucedida atividade profissional como bancário, até aos tempos da vida como reformado e avô “babado”.
Assim, enquanto narrativa autodiegética e escorreita na 1ª. pessoa, o livro é não só um acervo saudoso
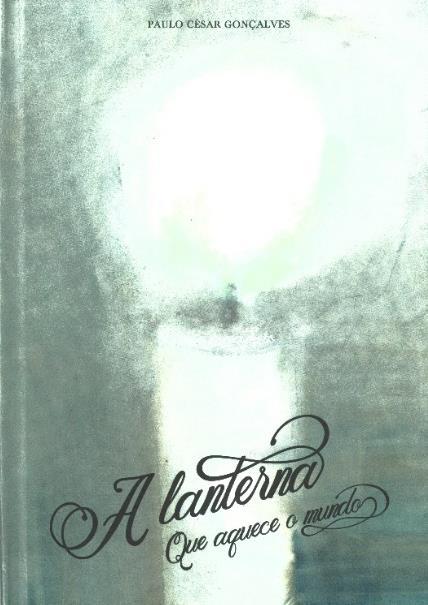
de uma panóplia de recordações e álbum familiar repleto de fotos nostálgicas, que remetem para a posterioridade, mas também um testemunho social da passagem do seu “relator” pelo associativismo vimaranense, inicialmente entre a dança nos 20 Arautos e na Associação Artística, e, posteriormente, com a bandeira do Vitória e a sigla do CAR (Círculo de Arte e Recreio).
De facto, este sócio nº. 27 do Vitória, inscrito desde os 10 anos, e acionista da SAD, cujo nome consta no Mural dos Doadores, passaria após 1985 à qualidade de Representante do Clube, em Lisboa, onde então residia, acompanhando sorteios e desempenhando variadas funções, aspetos sobre os quais dá conta detalhada, em curiosas situações e peripécias.
Outrossim, um relato de 4 anos de vivências no CAR, considerados como inolvidáveis. Tempos que permitem também lembrar amigos, em especial o grupo dos 21 que, incluído nesta coletividade por José Manuel Melo, colaborariam ativamente na construção do CAR, em especial na dinamização desportiva (andebol, ténis de mesa e voleibol feminino), na música com os Rockers e o Ritmo Louco e no Teatro de Ensaio Raul Brandão, sob a orientação de Santos Simões.
Em súmula, um livro de teor memorialista, apresentado como relatório (certamente por “deformação profissional”), que, de facto, relata uma vida degustada de paixões vivenciadas, mas que também acaba por cronicar sobre Guimarães, nos inícios da década de 60. Guimarães que continua na massa do sangue do autor deste relatório, que o autor visita frequentemente, por vezes acompanhado por lisboetas amigos, em especial em momentos altos, como na CEC 2012 e nas Festas Nicolinas, certamente com o orgulho de mostrar e ser vimaranense …

O romance de Adélia Pires, “Guimarães sempre no coração”, é o último título da escritora, nascida em Duas Igrejas, Miranda do Douro, que desde 2009 tem residido entre nós, em Guimarães. Professora do 1º.

ciclo, licenciada em Psicologia Geral e Aplicada e autora de várias obras de poesia e ficção, nomeadamente para crianças e jovens, Adélia Pires é ainda uma cidadã ativa que esteve envolvida na Universidade Sénior de Guimarães (UNAGUI) como docente de Português e como participante do projeto “Guimarães Acolhe”, em prol dos refugiados.
Ora, o romance “Guimarães sempre no coração”, escrito em cerca de 5 meses, no decurso dos tempos difíceis de pandemia, é um livro escrito com o coração e um hino ao amor e à amizade que, partindo da realidade, transpõe ficcionalmente para o papel, para além da memória e dos sentimentos, as vivências reais vividas numa quinta, em Guimarães, da qual as personagens, mesmo quando viajam não se desprendem, pois “Guimarães sempre no coração” é uma emoção presentemente forte e sempre saudosa.
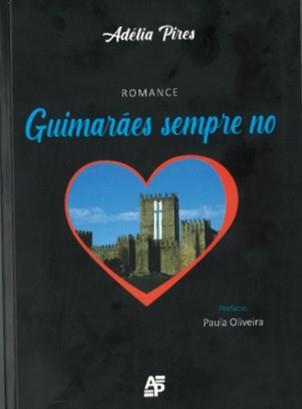
O apelo telúrico da terra, em especial o seu património material e imaterial, bem como os seus valores, tradições e ritos, salvaguardados nas toalhas de linho, nos bordados vimaranenses e/ou preservados no samagaio, pautados por um percurso de vida ritmada pelo ciclo das festas litúrgicas, faz, por conseguinte, com que as personagens não se sintam bem, fora e longe das suas raízes. Deste modo, a quinta é por sinédoque o espaço da cidade e do sentimento mais íntimos, assimilados quer corporalmente quer emocionalmente:
“Amo este cantinho. Não descobri que era um tesouro para mim só porque me afastei dele por algum tempo, sempre o considerei de altíssimo valor (…) Nos meus olhos paira constantemente a onda verde de frescura que serve de cercadura da quinta e onde me deleito na amena sombra.”

De facto, nesta história do par Ana e Manuel e de personagens como José e Marta e o senhor Lopes, pode caber a estória de cada um de nós, mas também da superação das diferenças, inclusive sociais (ainda vigentes), perante as vicissitudes da vida, nomeadamente os amores preconceituosos e proibidos à laia camiliana, que também e ainda hoje perpassam na tessitura narrativa deste romance: “A Ana é filha dos donos da quinta (…) O senhor José e a senhora gostam muito de mim, mas não sirvo para amar a Ana. Não é comum um pobre empregado amar a filha do patrão rico”.
Ademais, um livro que revela com autenticidade uma afeição a Guimarães e às suas gentes e uma loa ao amor e à amizade, enquanto valores que comandam a vida: “o amor dá-nos o sentido da plenitude”, escreve a autora. Amor nas suas múltiplas facetas e expressões: paternal, conjugal ou fraternal, como o de
Ana por seu irmão Francisco, vivido na presença e/ou na ausência da perda. Amor que, hoje mais do que nunca, deveria também ser ontologicamente (mas nem sempre é) a matriz universal da vida. De facto, como diz Eugénio de Andrade, “é urgente o amor” …
No fundo e em súmula um romance de sabor a mel e ternura, no qual perpassa uma escrita escorreita e criativa, por vezes elaborada na sua riqueza vocabular e de expressão poética, em cujo teor e estilo, fluente e vivo, se sente indelevelmente uma apurada sensibilidade e fina análise psicológica do ser humano.
Seguramente um livro a ler, paulatinamente ou de um só fôlego…
A vida e a cor das palavras Trabalho coletivo dos alunos do 2ºB e 3ºA da Escola de Santa Luzia – AEFH
O Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda lançou, no final do ano letivo de 2021/2022, o livro intitulado “A Vida e a cor das palavras”, um trabalho coletivo dos alunos do 2º - B e 3º.- A das Escolas de Santa Luzia, resultado da iniciativa e empenho das professoras Conceição Pacheco e Glória Batista, com ilustração de Mónica Araújo. A apresentação esteve a cargo de Eduardo Magalhães, professor reformado e avô de um dos alunos intervenientes.
Porém, um trabalho a várias mãos, que teve a relevante particularidade de integrar os familiares na construção da história, dando mais vida e colorido às palavras e solidez afetiva à ligação escola-família, bem com à integração de ambas as partes no processo de ensino-aprendizagem.
Assim, nesta história de fantasia e de magia, passada no reino maravilhoso da Florilândia, encontramos diferentes personagens como feiticeiros, fadas, duendes, elfos e até unicórnios, claro, a protagonista: a fada Andreia. Uma história intemporal cujo incipit, como em todas as histórias, assim começa:

“Era uma vez uma pequena fada chamada Andreia, que recentemente tinha perdido alguns dos seus poderes. As suas asas tinham desaparecido, não podia voar e achava que não podia servir para nada, que já não tinha qualquer poder.
Certo dia, Andreia foi à floresta. (…)”

A floresta dos medos e perigos, dos seres estranhos e a partilha de amizades seria assim o espaço físico e metonímico deste mundo e vida de aventura e caminhada, que, a despeito do desaparecimento das asas da protagonista, daria asas à imaginação criativa e voos em bando com toda a comunidade escolar: professores, alunos e família.
Todavia, uma história que apesar de ser elaborada individualmente a várias mãos tem um fio condutor coeso e coerente, que dilui completamente a sensação de “colagem” de textos. Com efeito, no resultado final transparece uma unidade de ação atingida e uma história bem encadeada e conseguida, num voo sincronizado entre todos.
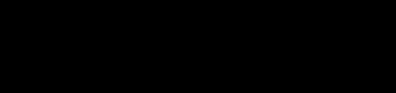
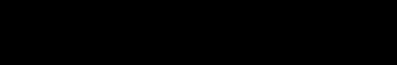
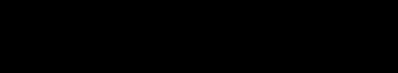
E mais não dizemos sobre o livro, pois só lendo sentirão a magia do pó de Perlimpimpim e a magia do Amor, que depois de espalhado pode trazer Harmonia, Paz e Amizade.
Deixamos tão-somente um cheirinho do seu final, como gostosura aliciante:
“O Feiticeiro Gaspar, ajoelhando-se aos pés da Fada Andreia, perguntou:




- Queres casar comigo?
A Fada Andreia ficou muito contente, porque já sentia mais do que amizade por Gaspar. E respondeu:
- Sim, há muito tempo que os meus sentimentos por ti são mais que amizade.”
Seguramente um livro a ler e um bom exemplo de boas práticas.

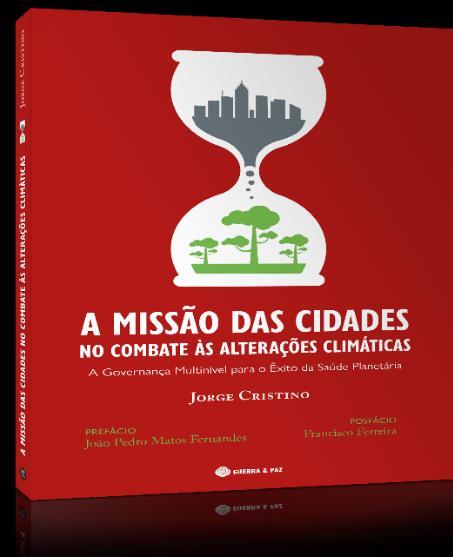
Não me atrevo a tentar definir felicidade, nem tão pouco a pensar, utopicamente, que o normal é estar sempre feliz. Sentirmo-nos bem com nós próprios, viver em pleno equilíbrio com a natureza, respeitar o próximo, são condições indispensáveis para o equilíbrio e bem-estar, sem os quais não podemos falar de felicidade. Sentir e vivenciar múltiplas emoções, com formas e intensidades diferentes, pressupõe que aceitemos, de forma natural, que nos possamos sentir extremamente felizes ou tristes, consoante o momento.
É claro que o desejável é sermos felizes e esse estado deve ser proporcionado também por aquilo que nos rodeia. Esta ideia de que a nossa felicidade é influenciada pelo ambiente envolvente revela-se extremamente importante e tem sido um dos pontos mais mencionados no Relatório Mundial da Felicidade (World Happiness Report), através do qual se conclui que o nosso bem-estar, a qualidade de vida e sobretudo a nossa felicidade, também dependem da qualidade ambiental do local em que vivemos. Indicadores como a qualidade do ar, a qualidade da água, o ruído, a alimentação, a temperatura, entre tantos outros relacionados com o ambiente, o território, o clima e o desenvolvimento sustentável, influenciam a nossa saúde e com isso o nosso bem-estar e felicidade. Este relatório evidencia, cientificamente, que a variação do bem-estar está diretamente relacionada com 42 % dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Assim sendo, é urgente que tenhamos consciência de que viver em pleno equilíbrio e harmonia com a natureza é fundamental não só para a nossa longevidade, como também para a nossa relação de cooperação e partilha com os outros. Para sermos felizes e nos sentirmos bem, não precisamos de ter muito ou adquirir o que não é necessário. Não precisamos de responder ao impulso do consumo desenfreado ou do sentido de posse, para sentir que somos mais ou melhores. Pelo contrário. Cada vez mais, faz sentido voltar às raízes e às origens, onde nos reencontramos com as coisas simples que nos fazem verdadeiramente felizes. Less is more. Esta máxima leva-nos a outras questões, nomeadamente aos valores e princípios essenciais à vida em comunidade e que estão na base de qualquer

conceito de sustentabilidade. São eles a paz, a liberdade, a democracia, a cooperação, a partilha e a identidade.
A cola de um povo é a sua identidade e ela demonstra-se pelos fatores de união, solidariedade e fraternidade entre a comunidade, seja ao nível de uma cidade ou país. Por isso, o primeiro alimento para a Felicidade do ser humano é a identidade, que define a cultura e as tradições de um povo, no qual desenvolve o seu orgulho e sentido de pertença que o leva a cuidar diariamente do local onde vive e respeitar a sua natureza, com o sentido de responsabilidade de querer deixar um lugar melhor para as gerações seguintes e, acima tudo, deixar o legado da história assente em princípios e valores essenciais para a Felicidade.
Os cinco “P” dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, apontam-nos esse caminho: um mundo 100 % dedicado à felicidade das Pessoas, vivendo com Prosperidade, onde seja possível garantir a Paz, com um respeito integral pelo Planeta, construindo-o através de múltiplas Parcerias.
A presente antologia poética de Andreia Gonçalves – aluna do 8.º ano da Escola Básica do Vale de São Torcato, em Guimarães – corresponde a dois anos de escrita poética em forma de diário.
Este livro, reflexo de pensamentos, vivências e emoções sentidos no dia-a-dia de uma adolescente, é o resultado de um trabalho de escrita de alguém que apresenta uma sensibilidade e um espírito crítico incomuns nesta faixa etária. É constituído por 44 páginas onde nos são apresentados os poemas e pensamentos desta adolescente, fruto de um rigor ao nível da escrita e da capacidade de observação de todas as suas histórias e as daqueles que com a autora partilham os mesmos espaços e ambientes, que nos presenteia com uma visão realista e muito atenta da sociedade atual.

A autora começa por escrever o seu próprio “Autorretrato”, logo na página 5, “despindo-se”, perante o leitor, de todos os preconceitos e expondo uma forma de estar que influenciará toda a sua linha de pensamento – “Luto por aquilo em que acredito sem

ter medo do que as pessoas possam pensar”, in Autorretrato, pág. 5. A partir desta forma de estar, a Andreia assumirá uma atitude de auto-reflexão sobre si própria e sobre os outros e evidenciará uma transparência tão grande que encorajará os seus leitores e, acima de tudo, aqueles que com ela convivem, pois confrontaos com os seus problemas reais e com a ousadia para os enfrentar.
Além desta linha auto-reflexiva, a autora assume, neste livro, uma postura bastante adulta sobre temas atuais e fraturantes como o Racismo, página 11, levando o leitor a questionar a sua atuação e a dos outros perante um problema tão abrangente. Através deste poema, mostra-nos que não é um problema só nosso, mas de todos.
Ao navegar neste livro, deparo-me com as frases e expressões da Andreia para expressar a coragem e o apoio que gostava de ter da sociedade para que ela pudesse, de uma forma mais ativa, dar o seu contributo para mudar algumas mentalidades; deparo-me com a abordagem de vivências que “num turbilhão de emoções e sentimentos”, página 32, não nos deixam indiferentes à sua forma de analisar cada pormenor da sua vida; deparo-me com a colocação de questões aparentemente banais, tais como “Devemos acreditar no amor?”, página 18, mas que aos olhos de uma adolescente se revestem do mais puro significado e da mais intensa experiência; deparo-me com reflexões e pensamentos que vão muito além dos pensamentos de uma adolescente que, com os seus catorze anos, nos faz refletir que “Nós somos simples passageiros neste mundo”, página 9. Ao folhear o livro, questiono-me, muitas vezes, sobre a maturidade da autora que, de uma forma tão adulta e madura, nos sugere com convicção “Não tentes fugir ao passado…/ Não tentes mudar o presente…/ Não tentes criar o teu futuro…”, página 27.

Esta antologia surpreendeu-me desde a leitura do primeiro poema, pois encerra em cada palavra uma intensidade e uma transparência, como é exemplo o seguinte pensamento: Na vida, cruzam-se muitas coisas e pessoas, atitudes cujas razões, a razão não explica…, página 10.
Em jeito de conclusão, faço minhas as palavras da autora do prefácio, Bruna Rocha, quando nos diz que ao longo da leitura desta obra poética “Sentirás força e voz para seres quem és, não te impondo um exemplo a seguir, mas incentivando-te a que sejas o exemplo a seguir” .

O conhecido médico urologista vimaranense apresentou, já no dia 4 de dezembro de 2021, a segunda edição do livro “O Sorriso é a morte de todos os medos”, tendo em conta o interesse manifestado pelos leitores da sua primeira edição, entretanto esgotada. A apresentação decorreu no espaço Mezanino, no Largo de Donães, em Guimarães.
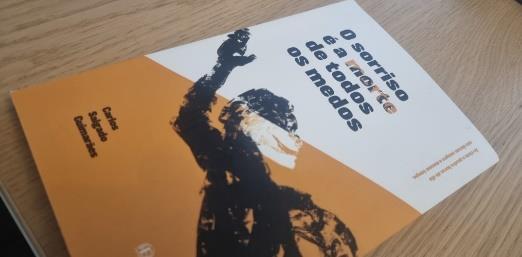

Como ele gosta fê-lo rodeado de amigos e à volta de uma conversa sobre a temática do livro, reeditado agora, mas lançado em 2017, que é “uma homenagem à mulher e à sua força superior”, e também à “luta hercúlea, ainda necessária pela sua emancipação, por uma liberdade maior, contra as amarras, os estereótipos e tradições vincadas na sociedade”, como referiu o autor na sessão de lançamento. Um Romance a não perder de ler.
108 Natural de Guimarães, 1964. Licenciado em medicina, 1989, ICBAS, Universidade do Porto. Especialista em Urologia, 1898, atividade que exerce. Autor de múltiplos artigos de opinião na imprensa regional. O Trémulo da Carriça (2015), As Borboletas Voam Sozinhas (2016), O Sorriso é a Morte de Todos os Medos (2017), são as suas obras editadas em edição de autor, já esgotadas.

Eu era gajo reúne uma seleção de crónicas publicadas por Rui Vítor Costa, no centenário semanário vimaranense O Comércio de Guimarães. Colaborando com o jornal, desde finais de 2022 até à data, o autor selecionou 66 dessas crónicas, dando particular destaque às mais recentes, num livro com mais de 200 páginas, onde discorre sobre os mais diversos temas.
Com uma forma de escrita que denominou, na apresentação do livro, em dezembro de 2022, como simples, apesar da simplicidade ser bem mais difícil de atingir do que a intelectualização hermética das ideias e das opiniões, como então afirmou. Rui Vítor Costa fala, nestas crónicas, sobre tudo. Desde a marmelada até Trump, desde o futuro até às memórias de infância, desde a cidade até à pose dos dias de hoje, desde as mulheres até ao património, desde a melancolia até aos ginásios, desde a tropa aos “engenheiros da condução”, Rui Vítor Costa reafirmou, na apresentação, que damos pouca importância às coisas simples que nos acontecem e que são, como frisou, as mais importantes, pois, simplesmente, nos acontecem mais vezes. Não deixou de referir ainda a profunda marca que nele deixou Miguel Esteves Cardoso, em que muito lia sobre música, desde a adolescência.

O autor encara a escrita, apesar da sua intensa atividade cívica, como a mais prazenteira e natural das suas atividades. Escrever sobre o quotidiano é o seu mote, sem estar encafuado em nenhuma corrente de pensamento moderna, ou supostamente moderna, e, muito menos, nas “grandes verdades universais”. É precisamente destas trincheiras que o autor disse tentar fugir através da escrita. E, segundo ele, é precisamente a escrita o veículo por si escolhido para escapar à claustrofobia da intolerância.

Eu era gajo fala-nos sobre uma multiplicidade de temas que, no fundo, se resumem a um só: viver.

No final da tarde do dia 10 de dezembro de 1970, dias depois de uma altercação entre um grupo de empresários e o Governador civil de Braga, a cidade de Guimarães respondeu a Santos da Cunha com uma demonstração de “Unidade” dos vimaranenses na resolução dos seus problemas e na defesa da sua região. Nesse dia, mais de vinte mil pessoas, provindas de todo o concelho, reuniram-se no Largo da Câmara, não só para defenderem o demissionário presidente da sua edilidade, mas, essencialmente, para demonstrarem a insatisfação popular pela ausência de investimentos na sua terra.

A reivindicação de escolas para todo o território e, principalmente, de um “Instituto Industrial” que apoiasse a formação profissional capacitada para o desenvolvimento tecnológico local, estiveram na base da manifestação.
A vergonha local por ostentar a maior taxa de mortalidade infantil do país, associado à ausência de investimentos do Estado ao nível da habitação, saúde e vias de comunicação, completavam, então, um intolerável quadro de abandono ao ponto de nenhum presidente de Câmara se consolidar no lugar.
Paradoxalmente, a indústria vimaranense passara a década de 1960 a contribuir, significativamente, para o aumento das contas públicas. Mas os fluxos de investimento público desconheciam os caminhos de Guimarães. A monitorização dos atos do Governador civil pelos vimaranenses não deixava margem para dúvidas quanto à concentração de investimentos públicos distritais, quase exclusivamente, no concelho de Braga.
Esta é a história que Esser Jorge Silva detalha no livro “Nascimento da Unidade Vimaranense”. Recorrendo à memória de alguns atores e suportado nos relatos da imprensa, o autor reconstrói os dias de efervescência que antecederam a manifestação do dia 10 de dezembro de 1970. Os números da desgraça
109Esser Jorge Silva é investigador do Centro de Estudos Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho, professor do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA) e da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). Foi jornalista e, enquanto tal, fundou a Rádio Santiago, dirigiu a Rádio Fundação, fez parte da direção do Jornal “O Povo de Guimarães” e trabalhou no jornal “Região do Minho”. Conjuntamente com o Fabricados na Fábrica, Teleférico da Penha – Imaginário e realidade, Tempo Livre 20 anos – História de uma Estratégia Municipal para o Desporto e agora a obra sobre o Nacimento da Unidade Vimaranense, o autor vai construindo uma obra à volta de Guimarães e dos vimaranenses, embrenhando-se em temas que atravessam as idiossincrasias e as transformações da sociedade vimaranense.
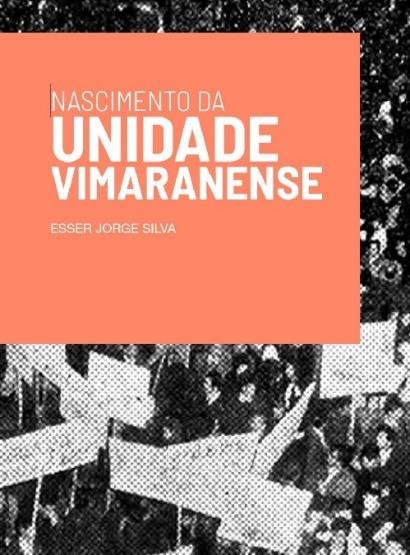
vimaranense, a estratégia de enfrentar sem ofender, o recurso ao direito de defesa da região pelo clamar do bairrismo saudável dos possuídos pelo “amor à terra” e a luta contra o “destino” como coisa já instituída, constituem fatores que explicam a rebelião guiada pela elite vimaranense, à qual o povo aderiu sem parcimónias.
Mais do que uma simples demonstração de força, a manifestação ocorrida naquela quinta-feira, dia 10 de dezembro de 1970, constituiu, ao tempo, uma espécie de revelação de outras possibilidades na busca de soluções para os problemas de Guimarães.
Pouco mais de três meses passados, em consequência da manifestação que impedira o seu presidente de Câmara de se demitir, 857 pessoas constituíram a “Unidade Vimaranense - Associação para o Desenvolvimento de Guimarães e sua Região”.
Alguns anos mais tarde, a rebelião vimaranense teria como corolário, entre outros, a constituição, em 1973, da Universidade do Minho – consequência natural do revindicado “Instituto Industrial”. O livro não avança até à criação deste grande equipamento do ensino superior. Mas, percebe-se, que o autor deixa em aberto a prossecução da história, possivelmente em edições seguintes.

A investigação segue a tradição do novo jornalismo, ou jornalismo literário, que tem como expoente máximo autores como John Hersey, Guy Talease e Truman Capote. Em Portugal, o género tem sido explorado por autores como Fernando Dacosta, Miguel Carvalho e José Pedro Castanheira.
Em “Nascimento da Unidade Vimaranense” não escapam demonstrações da realidade económica da época, como uma recolha das grandes preocupações sociais de então. O livro recorre a uma linguagem simples – sem ser simplista, e tem na procura de fontes vivas, assim como documentação até agora desconhecida, provas mais do que evidentes do desespero e efervescência dos vimaranenses durante o período de administração de Santos da Cunha no Governo Civil de Braga.
Não só recompõe, por vezes de forma micro, os dias da altercação, mas, em simultâneo, tem a preocupação de evidenciar a tensão que resultou numa explosão social. Em simultâneo, dá a conhecer as estratégias dos atores sociais para que as suas atitudes se enquadrem, exclusivamente, em anseios e preocupações de cidadãos preocupados com a sua terra e não resvalem para a ideia de afronta ao regime. O envio de telegramas ao Presidente do Conselho, ao Presidente da República e ministros, para além do conhecimento dado a outros altos dignitários como Duarte do Amaral, mais do que cuidado, revela uma atitude pejada de tática com o objetivo de reverter o sentido prevaricador e ação política contestatária expressa na contenda.
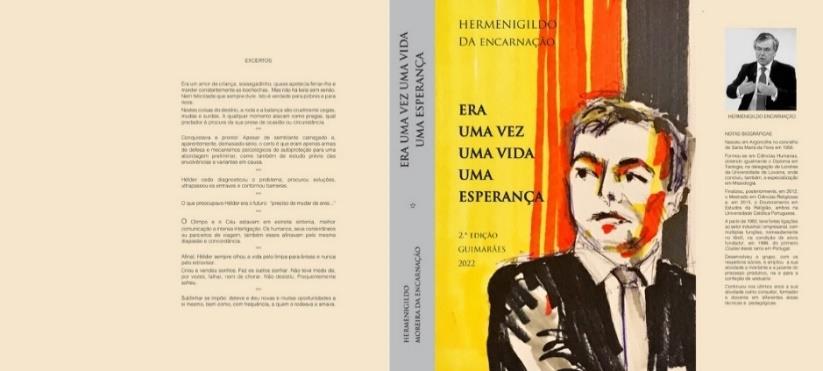
Trata-se de uma 2ª edição da obra em título, onde o autor desta ‘trama romanceada’, Hermenigildo da Encarnação, surpreende “pela serenidade cívica, pelo tom calmo e harmonioso do sotaque, pela vivacidade do diálogo, pela clareza expositiva, pela tolerância coloquial, pela singeleza expositiva, pela tolerância coloquial, pela singeleza narrativa, pela sinceridade que se lê num rosto; um homem que foi criança, que se formou à sua custa; um cidadão que se faz amigo ao primeiro contacto, que adere às causas da alteridade, da solidariedade e do bom senso.110”
São quase 500 páginas de texto corrido. Percebe-se que há vidas em destinos afins, entre protagonistas que apenas nasceram noutro tempo e noutro espaço. Eis uma “autobiografia bem disfarçada, um relato bemsucedido, uma narrativa cheia de cambiantes positivos”. A capa artística é de Vasco Carneiro.

A linguagem é cristalina, com personagens perfeitamente coerentes, numa ascensão social edificante e solidária, sem dramas e sem ambientes nocivos ao leitor. O enredo está dividido em duas partes: uma primeira, «Era uma vez…uma vida», com 18 capítulos. No final dessas dezoito etapas há, como nos livros de investigação científica, 64 notas sobre essas 218 páginas. A segunda parte chama-se «Foi uma vez…» e tem mais 19 capítulos, avisando que «a trama romanceada tem subjacente factos na sua essência verídicos, experienciados pelo protagonista ou pelos personagens», cujos nomes são fictícios. Essa segunda parte termina do mesmo modo com 164 notas de rodapé. A primeira edição surgiu em Guimarães, em 2020, e rapidamente se esgotou sendo lançada a 2ª edição, em 15.06.2022, na Universidade Sénior de Guimarães, vulgarmente conhecida por UNAGUI.
110 Cf.: 9 Séculos – Revista da Lusofonia, agosto 2020, nr. 1, p. 121/2.
A obra Memórias de Creixomil – A Visita Pascal surgiu na sequência da exposição com o mesmo nome realizada durante o período Pascal, em Creixomil, em 2018.
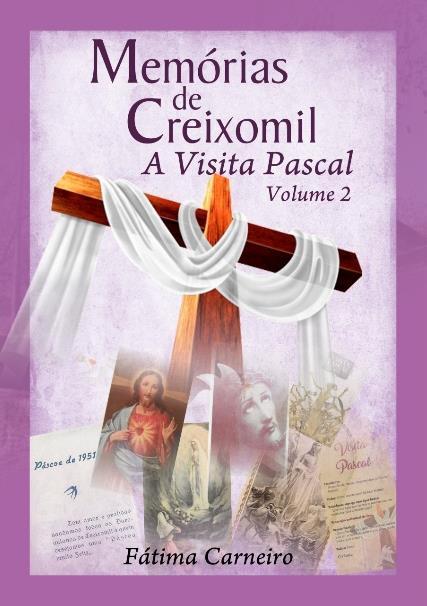
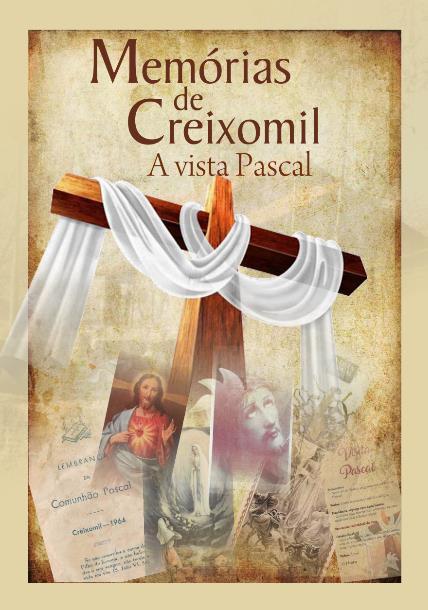
Com esse trabalho de pesquisa, a autora pretendeu reunir em livro um conjunto muito vasto de informação que, por se encontrar dispersa, corria o risco de se perder. Reunida e organizada, completa-se e perpetua a Memória do Povo de Creixomil.
O material recolhido está publicado em dois livros.
Com o lançamento do primeiro volume, a autora pretendeu incentivar a população a colaborar nessa recolha e a enriquecer, com as suas vivências, uma obra que se pretende coletiva.
O primeiro volume é constituído por seis capítulos: Creixomil em números, Sacerdotes que serviram em Creixomil, Itinerários, Toalhas com história, O almoço, Pagelas ou Santinhos.
Do segundo volume fazem parte dez capítulos: Compasso Pascal 2015, Compasso Pascal 2016, Compasso Pascal 2017, Compasso Pascal 2018, Compasso Pascal 2019, Oferendas, As nossas Vivencias, Páscoa Poética, Tesourinhos, Curiosidades.
Tendo como pano de fundo a temática da Visita Pascal, a autora quer também mostrar o percurso da sua paróquia ao longo de cerca de meio século: o crescimento populacional, as alterações de toponímia, a evolução nos usos e costumes populares.
É uma obra de fácil leitura, com muitas imagens e em linguagem simples.

O livro Padre João Francisco Ribeiro – 50 anos ao serviço de Creixomil foi publicado pelo Conselho Económico da paróquia, em janeiro de 2022, aquando da passagem do primeiro aniversário do seu falecimento. Trata-se de um Memorial, em jeito de homenagem, pelos 50 anos de dedicação à paróquia de Creixomil e ao seu povo.
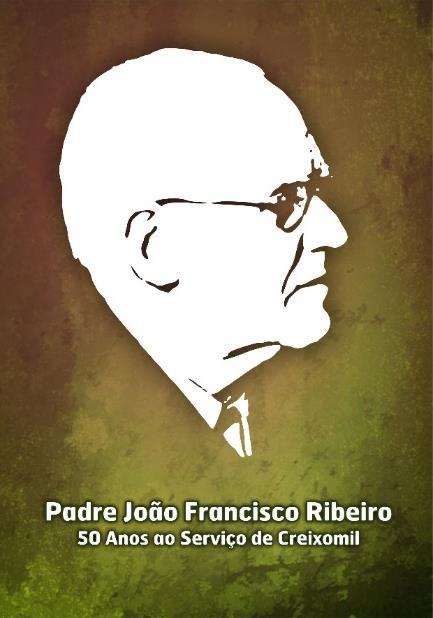
Através do olhar de várias pessoas que, ao longo de meio século, tiveram o privilégio de privar com o Rev. Padre João Ribeiro são-nos dadas a conhecer as muitas facetas que o caracterizavam: o apego à família, a paixão pelo Grupo Coral e pelo Agrupamento de Escuteiros (que ajudou a fundar), o orgulho nas Vocações Sacerdotais que ajudou a despertar, o espírito de missão nos Cursos de Preparação para o Matrimónio, o apoio Espiritual aos doentes enquanto Capelão do Hospital Nossa Senhora da Oliveira, o engenho e arte que colocava nos seus trabalhos manuais, o gosto pela descoberta de novos povos e novas culturas que explorava nas suas viagens, a presença assídua e atenta nos eventos sociais da sua comunidade, entre outros, estão muito bem retratadas nesta obra.
Atento às necessidades do seu rebanho e como que a premiar o trabalho de toda uma vida, o Rev. Padre João Francisco Ribeiro deixou para a posteridade “a menina dos seus olhos” – a Domus Vitae.

Orlando Coutinho, associativista vimaranense com participação política em fóruns democrata-cristãos nacionais e europeus, resolveu trazer à liça a ideologia que aparentemente saiu do léxico corrente das discussões hodiernas. Licenciado em Ciências Sociais e Políticas, pós-graduado em Economia Social e Ciência das Religiões, editou com a Lisbon Press o resultado da investigação que o conduziu à defesa do Mestrado em Filosofia Política na Universidade do Minho, onde obteve 19 valores.
O membro associado do Observatório Político Português partiu da seguinte pergunta que serviu de base
ao ensaio: a Democracia-Cristã mantém-se atual ou ficou arquivada na história das ideias políticas?

Na obra, o autor extrai a substância política do pontificado de Francisco e constrói uma hermenêutica que procura responder aos problemas contemporâneos. O texto, de cariz apologético, percorre a génese filosófico-doutrinária da ideologia, desconfessionalizando-a e registando as suas marcas contra distintivas com as demais correntes, como o socialismo, o liberalismo e a social-democracia.
De fecundidade evidente, já que aponta direção a temas que estão na ordem do dia, como o ambiente, a família, a economia, não deixando para trás a animada discussão em torno do Rendimento Básico Universal, “Democracia-Cristã, uma hermenêutica contemporânea” constitui-se como mote para um debate “na comunidade filosófica nacional” como diz o prefaciador e orientador académico, o Professor Doutor João Ribeiro Mendes da Universidade do Minho.

Apontando o centrismo como a vocação natural da DemocraciaCristã, defende-a com lugar próprio na taxionomia das ideias políticas ao invés de um filão do conservadorismo onde normalmente é alocada.
Uma leitura que se recomenda para melhor perceber a génese do modelo social europeu.
“Ondeando” é o mais recente trabalho de Tiago Simães, com ilustrações de Carolina Castro.
Um livro que conta a história do amor (im)possível entre as ondas e a areia, refletindo sobre a tolerância e sobre a capacidade de respeitar a natureza do outro através da construção de belas metáforas. Um livro infantojuvenil que na verdade contém também muito material de reflexão para os adultos.
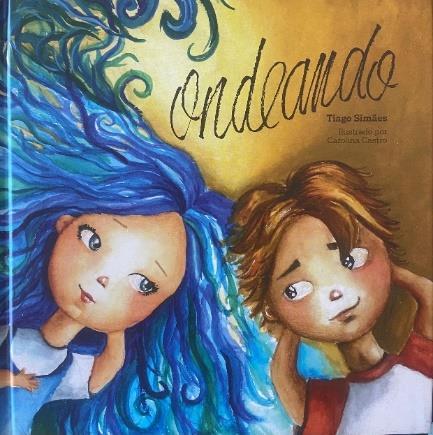
“A Raridade das Coisas Banais” é o título do derradeiro romance do vimaranense Pedro Chagas Freitas, que supostamente poderá ser o último da sua lavra. Com efeito, de acordo com afirmações do autor publicadas na comunicação social, “este era de longe, o meu melhor livro e, se calhar, já não escreveria mais nenhum romance porque acho que não consigo melhor”.
De facto, este romance foi recomendado por Portugal, no âmbito da iniciativa Readers of Europe, apesar do Conselho Europeu ter pedido livros de autores cujas primeiras obras tivessem sido publicadas nos últimos cinco anos.
“Uma história incrível que nos ensina a nunca nos sentirmos sozinhos” e que procura revelar a criança que há dentro de cada um. Com efeito, através das personagens Zambé, o miúdo traquina e criança filósofa, e Zé Pedro, de quem o narrador nos fala e questiona, brotam respostas curtas e iluminadas, como esta que inicia o livro:
“ - O que queres ser quando fores grande?
- Pequeno outra vez”
Respostas rematadas com estórias e pequenos exemplos que levam o leitor a refletir sobre a infância, os filhos, a morte, o ser adulto, o amor … que plausivelmente vai mudar a maneira como vemos a vida. No fundo, um livro que é uma lição extraordinária sobre aquilo que deveria ser sempre a mais importante componente da nossa existência e que é certamente o mais marcante romance do escritor entre os cerca de 40 títulos da sua produção literária.
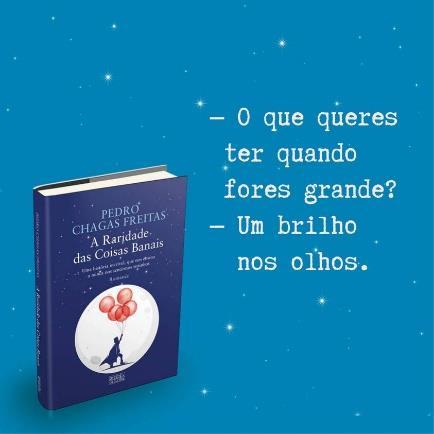
Efetivamente mais um trabalho de grande fôlego do escritor vimaranense Pedro Chagas Freitas, nascido em Azurém a 27 de setembro de 1979, que iniciando-se com “Mata-me” (2005), continua bem vivo e temnos brindado com várias obras, entre as quais se destacam “Prometo Falhar”, “O Amor não cresce nas árvores”, bem como “É urgente amar” e “Foste a maneira mais bonita de errar”, muitas delas traduzidas em várias línguas.
Porém e para além da escrita, que lhe valeu o Prémio Bolsa de Jovens Criadores do Centro Nacional de Cultura (2006), Pedro Chagas Freitas, revela-se ainda como exímio formador na área da escrita criativa, sendo fundador do Campeonato Nacional da Escrita Criativa e criador de dois jogos criativos: “A Fábrica da Escrita”

e o “Supergénio”.

Licenciado em Linguística pela Universidade Nova de Lisboa, Pedro Chagas Freitas tem também um trabalho relevante como orador e jornalista, que na sua juventude se iniciou em Guimarães como Chefe de Redação da revista “Estádio D. Afonso Henriques” (1997), “Desportivo de Guimarães” (2003) e em especial nas crónicas de reflexão publicadas no “Povo de Guimarães” entre 2003 e 2007. Contributos jornalísticos que igualmente se estenderiam a periódicos nacionais como “A Bola” (2001), ao grupo editorial “Impala” e à publicidade criativa, entre muitos outros.
Paulo César Gonçalves
Mais uma vez, Paulo César Gonçalves brinda-nos com um oportuno livro da sua lavra, desta feita rematado a propósito do centenário do Vitória Sport Clube. Um livro para crianças, que os mais velhos podem e devem ler, sugestivamente intitulado “Era (e é) uma vez o Vitória”, cuja denominação, à laia das histórias intemporais do incipt das narrativas tradicionais, nos transporta diacronicamente pelas vivências passadas e presentes do Vitória de Guimarães, agitadas com bandeiras a preto e branco a caminho de um futuro perene.
Realmente, como escreve na parte final da obra “o Vitória é sobretudo futuro”. Por isso, acrescenta: “esta não é uma História definitiva, porque deixa muito de fora, servindo apenas como uma sugestão de descoberta, Porque o Vitória é muito, muito maior” .
Portanto, um livro que baliza resultados maiores e constitui uma “homenagem aos adeptos”, que buscam novos golos de antologia! Mas, também, um livro construído a partir de memórias afetivas do autor “ quando era criança” e do subsequente mundo de encantamento, desses bons velhos tempos, recordados como “coisa de família”: obviamente da família de sangue e da família vitoriana.
De facto, Paulo César Gonçalves, com o espírito de criatividade e otimismo que sempre coloca nos seus textos, crê que não há futuro para as novas gerações sem o conhecimento do passado, mais ou menos próximo e recente. Efetivamente, a melhor vitória do Vitória é, de facto, este vínculo inter-geracional que marca a sua idiossincrasia e identidade, bem como a sua identificação com a cidade de que é berço.
Com efeito, como expressa na parte final do livro “o Vitória é uma herança e uma escolha. O futebol é
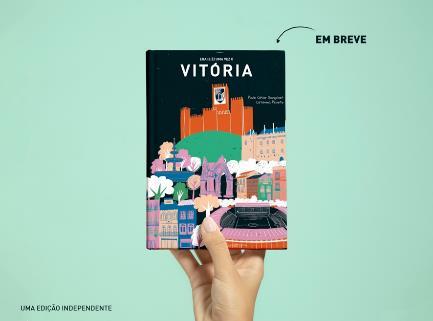
um elo bonito entre gerações, entre Pais, Mães, filhos e filhas. Um familiar que veste calções e meias compridas e usa amiúde, preto e branco ” .
Como tal, o autor conta a história da fundação, do símbolo, dos equipamentos, das modalidades e, entre outras coisas e loisas, os campos que o Vitória teve. Mas também, as suas personagens emblemáticas, nomeadamente mulheres vitorianas que, por algum motivo, se destacaram ao longo destes 100 anos, como princesas e damas do Clube do Rei.

Neste encontro no relvado, Catarina Peixoto marca também presença destacada no jogo, no campo da ilustração, cujo objetivo visa não só trazer a cidade para o livro como também as vivências das bancadas, das ruas, das tertúlias nos cafés e tascos e das claques. Por isso, nele brotam imagens icónicas e evocativas que todos lembram: a criança pela mão do pai ou avô rumo ao estádio, os gritos bairristas de incitamento, as discussões acaloradas, os relatos radiofónicos antes da TV, as multidões nos momentos áureos e comemorativos.
Ademais, este é um livro que vai para além do futebol e dos golos, dando azo às modalidades amadoras que são também Vitória …
Acrescente-se (ainda) que livro que vai ter códigos QR, que permitem, aos leitores, aceder ao palmarés do Vitória, à história dos presidentes e aos cânticos, entre outros aspetos vitorianos.
A ler entre pais e filhos e avôs e netos …

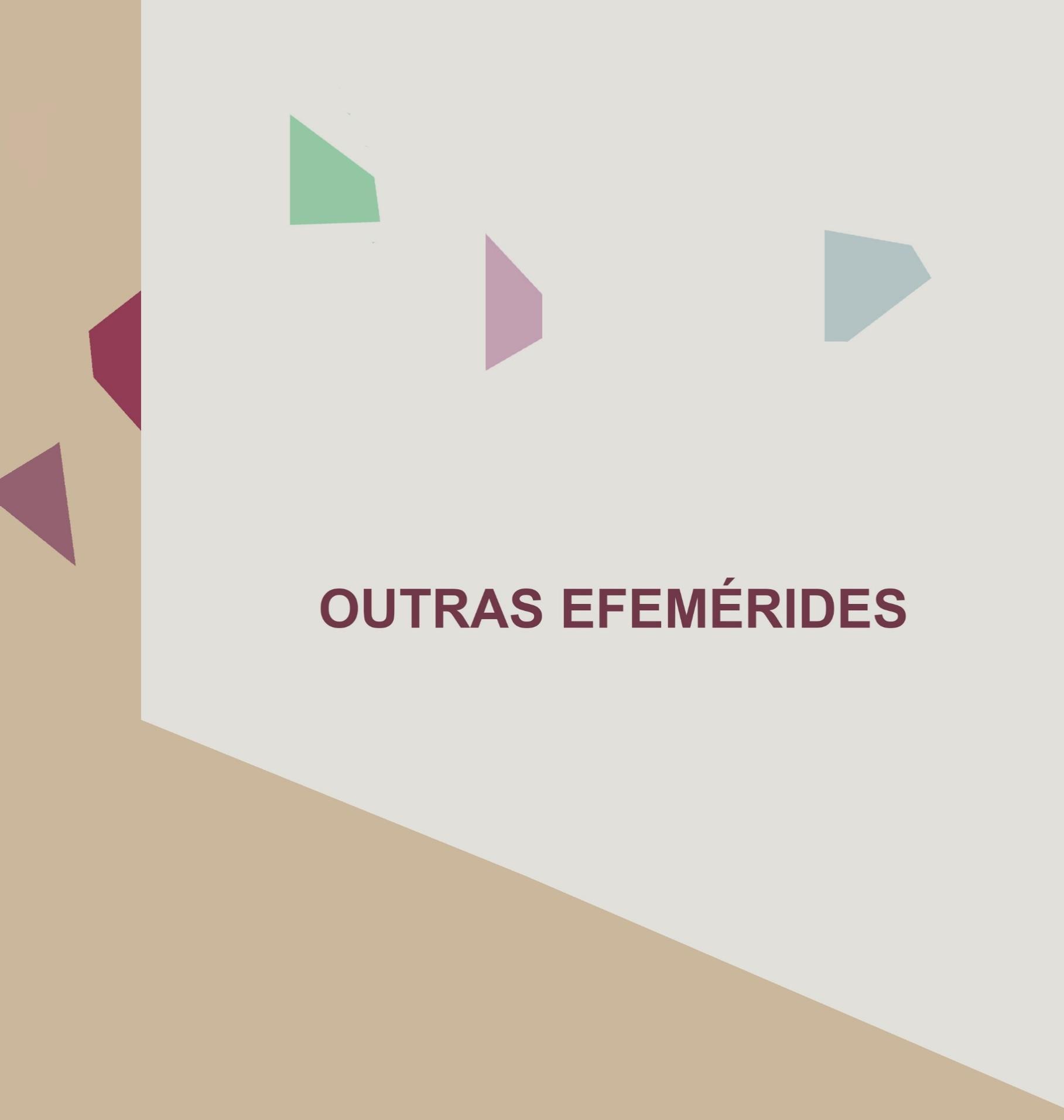
O ano de 2022 é (foi) um ano pródigo em efemérides de vária índole. Efemérides históricas, nacionais e internacionais, ocorrências diversas de foro cultural e associativo, bem como acontecimentos marcantes de cariz festivo e institucional, ou simples evocações de figuras eminentes
Deste modo, nas páginas que se seguem procuramos enumerar algumas dessas efemérides como os bicentenários da independência do Brasil, da Constituição Portuguesa de 1822 ou da publicação do primeiro jornal vimaranense, intitulado “O Azemel Vimaranense”.
Outrossim, o centenário da travessia aérea do Atlântico Sul cruzado por Gago Coutinho e Sacadura Cabral, recordada pelo artista vimaranense José de Pina no “Penedo dos Aviadores” na Penha, eventos comemorativos a que se ajuntam vários outros como os 170 anos da Romaria Grande de S. Torcato, memórias de personalidades vimaranenses como o Dr. Augusto Dias e escritores da nossa terra, assim como outras figuras nacionais e aniversários de muitas coletividades e instituições presentes no nosso burgo.

A Constituição de 1822 é a primeira constituição monárquica portuguesa.
Surge num momento histórico marcado pela defesa das ideias liberais, particularmente pelo liberalismo anglo-saxónico e pelo liberalismo francês, e assume-se como um instrumento de combate ao absolutismo e ao Antigo Regime. Resulta e é uma consequência do pronunciamento militar de 1820 e integra um movimento que podemos qualificar como o do Constitucionalismo Liberal.
Um movimento norteado por algumas ideias essenciais: a criação de um governo limitado pela lei; respeitador de alguns direitos individuais; preocupado em garantir uma liberdade assegurada pelo direito legislado em assembleias representativas, não das ordens sociais medievas, mas de uma nação constituída por cidadãos iguais perante a lei; norteado por um objectivo de conter as prerrogativas de uma soberania régia que desconhecera, até então, verdadeiras limitações objectivas. Um movimento inspirado no pensamento filosófico e político, entre outros, de Montesquieu e de Locke, e pelas suas ideias centrais: separação de poderes e defesa dos direitos fundamentais, assente na teoria dos direitos naturais e do contrato social.

A Constituição de 1822 constituiu um poderoso instrumento de transformação do Estado Absolutista em Estado Liberal. Um instrumento para a criação de uma nova ordem política, em que o poder do rei não fosse solitário e arbitrário, o mesmo é dizer absoluto – o Estado Liberal de Direito. De facto, neste momento histórico, Constituição é sinónimo de Liberalismo.
O aludido pronunciamento militar de 1820 fez eleger uma assembleia constituinte que aprovou uma Constituição, que consagrou os princípios estruturantes do pacto social liberal: separação de poderes, primado da lei, representação individual e direitos individuais. Preocupou-se com os direitos fundamentais de primeira geração, neles incluídos os direitos patrimoniais e de cidadania, desconsiderando, como era habitual neste momento histórico, preocupações de índole social e / ou intervencionista, que surgirão em Constituições de épocas históricas posteriores.
Na impossibilidade, desde logo por limitações de espaço, de tratar neste texto, de forma exaustiva, todas as principais “questões” da Constituição de 1822, abordaremos, de seguida, cinco aspectos essenciais, seguindo de perto Rui Albuquerque, in “1820 – O Liberalismo em Portugal”, 2020, Alêtheia Editores.

Em primeiro lugar, a forma como é tratado na Constituição de 1822 o tema da origem da soberania.
A Constituição de 1822 assenta num paradigma: o paradigma da soberania nacional.

Por via da Constituição de 1822, quebra-se um paradigma secular: a origem do poder enquanto atributo próprio do rei, recebido de Deus, directa ou indirectamente.
A Constituição de 1822 atribui a soberania a outra fonte legitimadora, a nação, afastando a quase-sacralidade com que se revestira durante séculos a figura e a pessoa do rei.
Consagra-se, deste modo, o princípio da soberania nacional, em conformidade com a doutrina defendida na elaboração da Constituição por Manuel Fernandes Tomás, que praticamente transpôs, para a realidade portuguesa, os princípios da teoria de Rousseau e de Sieyès de uma monarquia quase-republicana, na qual o rei não passava de um simples mandatário da nação. A Constituição fazia recair a legitimidade do poder sobre “os representantes legalmente eleitos” para as cortes (artigo 26.º), o que, pelo menos aparentemente, excluía o rei como fonte de poder próprio, sendo um mero delegado da soberania nacional. O poder do rei decorria do facto de as cortes lhe terem atribuído competências executivas no texto da Constituição por si feita e aprovada.
Em segundo lugar, a forma como é tratado na Constituição de 1822 o tema da unidade ou divisão da representação política.
Neste âmbito, a questão essencial é a questão de determinar a quem cabia o efectivo poder de fazer a lei. A Constituição vintista escolheu o modelo das cortes unicamerais, adoptando as ideias defendidas, entre outros, por Pereira do Carmo: “A Nação é uma, e, por analogia, a Representação Nacional deve ser uma” –sessão das Cortes Gerais de 1 de Fevereiro de 1821.

Em terceiro lugar, a forma como é tratado na Constituição de 1822 o tema do valor jurídico-político do veto legislativo do rei.
O veto legislativo do rei tinha uma eficácia meramente suspensiva, não podendo o rei deixar de
conceder imediatamente a sua chancela às leis de que discordasse, caso as cortes, em segunda leitura, as voltassem a aprovar, sem que existisse um qualquer prazo temporal mínimo para repetir a votação.
Em quarto lugar, a forma como é tratado na Constituição de 1822 o tema da dissolução das cortes.
A este nível, a opção foi no sentido da impossibilidade de o rei dissolver as cortes.
Em quinto lugar, a forma como é tratado na Constituição de 1822 o tema da garantia de direitos.
Neste âmbito, os direitos primordialmente garantidos eram os direitos à liberdade, à segurança individual e à propriedade. Direitos que se desdobravam nos direitos de igualdade perante a lei; de liberdade de expressão e de imprensa; à proporcionalidade das penas aos crimes; à proibição das prisões sem culpa formada; à proibição da tortura e de penas infamantes e cruéis.
A Constituição de 1822 constituiu um passo absolutamente decisivo na construção do Estado de Direito que hoje temos e da democracia que hoje somos. Um passo tão avançado para o seu tempo que seria objecto da reacção “moderadora” que se verteu na Carta Constitucional de 1826. No entanto, essa já seria matéria para outro texto.

Liberdade ainda que tardia Rafael Moura Brasileiro, músico, curioso e amante da história brasileira.
Este ano o Brasil celebrará os 200 anos da sua independência de Portugal. Os noticiários brasileiros preveem uma comemoração que vai além de desfiles e demonstrações militares pelas capitais, em ano de eleição presidencial. Espera-se até o coração de D. Pedro I, emprestado por Portugal, para a importante data. O coração do imperador está preservado desde 1835, no Porto, cidade que o tem como herói devido às batalhas travadas com o seu irmão D. Miguel.
Para Laurentino Gomes, escritor brasileiro do best seller “1822”, a independência do Brasil resultou de uma notável combinação de sorte, acaso, improvisação e também sabedoria de algumas lideranças incumbidas pelo destino do país. Após quase 200 anos, podemos perguntar-nos se a independência resultou em sucesso ou em fracasso - se o Brasil, como nação, deu certo ou não. É difícil responder a esta pergunta: se comparado com os EUA, inclinamo-nos a aceitar o fracasso; porém, temos muitos outros referenciais no Continente Americano para podermos chegar à conclusão de que foi um sucesso. No entanto, o melhor para o Brasil seria mesmo ser comparado consigo próprio, responsabilizando-se pelos seus erros e acertos desde os anos de país independente, eliminando a tese propagada por alguns historiadores de que os problemas brasileiros são problemas coloniais.

Com a chegada da corte de D. João ao Rio de Janeiro, inicia-se um período de mudanças mais profundas e aceleradas em toda a história do Brasil: passar de uma colónia atrasada, analfabeta, proibida e isolada, para um país pronto para a independência.
O Brasil não estava tão distante da Europa no que diz respeito às novas e velhas vertentes ideológicas e políticas que moldavam a modernidade, nem tão pouco de outras que lutavam para sobreviver. Desde republicanos, federalistas, monarquistas absolutos e monarquistas constitucionais, todos possuíam um projeto para o Brasil. No entanto, e apesar do discurso liberal de D. Pedro, o príncipe contraditório, já estava enamorado com a monarquia absoluta. Curioso então é o fato de que o projeto de Brasil independente que funciona e é colocado em execução, não é o do protagonista D. Pedro, mas sim outro assinado por José Bonifácio de Andrade e Silva. Foi este um dos homens mais ilustres da época, maçom, considerado mais culto que Thomas Jefferson; o seu projeto, em 1822, era manter o país unido numa monarquia constitucional

parlamentarista, sobre a liderança de D. Pedro I.

José Bonifácio, com uma larga experiência adquirida, naturalista, poeta, com 36 anos de vida na Europa e vivenciando até mesmo a revolução francesa nas ruas de Paris, percebeu que um dos principais problemas do Brasil era não somente a sua extensão territorial, mas também a falta de unificação, de integração do povo e de uma identidade nacional. Esta problemática ganhou mais atenção no segundo império e, posteriormente, o presidente Juscelino Kubitschek tirou do papel um projeto de integração de José Bonifácio e construiu e inaugurou em 1960 a atual capital do Brasil, Brasília, no centro territorial do país.
José Bonifácio se tornaria o mentor do jovem D. Pedro, com a ajuda de Maria Leopoldina, esposa do príncipe regente. Surge uma parceria quase paternal, mais que um conselheiro, um projetista e um articulador político que fazia com que a voz das elites chegassem ao príncipe regente.
Alguns historiadores, como Sergio Buarque de Holanda, defendem a tese de que a independência do Brasil não foi resultado do desejo genuíno de separação por parte dos brasileiros, mas sim do resultado de uma guerra civil entre portugueses. Até às vésperas do grito do Ipiranga, a maioria das lideranças brasileiras defendiam a continuação do reino unido Brasil, Portugal e Algarve da forma criada por D. João, em 1815. A prova deste argumento foi a difícil tarefa de adesão do Norte e Nordeste brasileiro à independência, que levou a aproximadamente um ano e meio de conflitos e mortes na região.
A revolução liberal do Porto abriu caminho e ajudou à tomada de decisão. Com a crise na metrópole e o progressivo aumento da pressão das cortes para a recolonização do Brasil, as elites separatistas brasileiras se aproveitam para executar o projeto de independência. Este processo só foi possível sem fragmentação e guerra civil, devido à presença do príncipe herdeiro D. Pedro que, categoricamente, foi deixado no Brasil por seu pai para manter unidos os laços entre Brasil e Portugal.
O reconhecimento do Brasil como nação independente custou 2 milhões de libras de indemnização pagas a Portugal. Sem dinheiro, o Brasil toma um empréstimo da Inglaterra e nasce então uma nação endividada, tradição esta que foi mantida por diversos presidentes do Brasil até aos dias atuais.
Difíceis seriam os passos seguintes do príncipe para consolidar o Brasil como nação, já que o país já possuía elites políticas diversas desde liberais, conservadores e até mesmo forças que defendiam a recolonização. Assim surge a primeira tentativa fracassada de elaborar uma constituição, que terminou com o cerco da Assembleia pelo exército de D. Pedro. Porém, vale a pena ressaltar que a proposta favorecia as elites econômicas mantendo o latifúndio e a escravidão, como também a subordinação do monarca ao poder legislativo (último ponto que provavelmente foi determinante para a ruptura de D. Pedro, que mandou então encarcerar vários deputados, inclusive alguns irmãos de maçonaria do próprio imperador).
Após este breve resumo histórico, podemos concluir e analisar que a construção do Brasil como nação esbarra no problema da formação de elites econômicas que posteriormente se tornaram elites políticas. A premissa de Max Weber está correta: a política molda a economia e não o contrário. Por isso, as elites retrógradas brasileiras sempre tiveram sua sede pelo poder político para obter o poder absoluto, criando um fisiologismo vicioso que perdura até aos dias de hoje. No Brasil, o discurso de que todo o poder que emana do povo se corrompe, se reformulando na forma de que todo poder emana das elites econômicas, essas que fizeram com que o Brasil fosse o último país das Américas a abolir a escravatura e que talvez por este motivo e outros ainda mais conservadores, nasce a precoce república, nascida sem qualquer dúvida das necessidades destas mesmas elites organizadas.
Não me confundam com um monarquista, nem na sua melhor vertente, a parlamentarista, pois o poder por herança genealógica é sempre uma lotaria, pois pode sair por sorte um D. Dinis como pode sair um D. Afonso VI. A questão que pretendo levantar (que penso ser o tema central deste texto) é: quando será o Brasil independente das elites que até hoje massacram o povo brasileiro?

A formatação do Brasil como terra de oportunidades gerou uma terra de oportunos, de elites gananciosas que nunca permitiram o seu crescimento, seja na educação ou na economia. Tudo deveria ser deles e por sucessão, claro, dos seus filhos - quase um feudalismo moderno.
A velha e carcomida república brasileira, que nasce de um engodo, de uma falsificação mal feita de repúblicas verdadeiramente progressistas, manteve um tipo de poder centralizador que é trespassado por gerações de políticos que fingem até hoje uma luta antagônica que, no entanto, não passa de uma velha estratégia das tesouras, que por final se abraçam para sobreviver juntas.
Quando ainda menino, sempre ouvia uma anedota que dizia que quando Deus criou o mundo, desenhou o Brasil para ser perfeito, sem catástrofes naturais e com uma beleza exuberante; porém, o problema seria o povo que lá iria habitar. Sem demoras digo que esta anedota pode fazer leigos rirem, mas para os instruídos não tem a menor piada. Reafirmo e reforço: maldita é a elite brasileira!
A identidade brasileira é marcada pelo acaso, um povo que teve que se adaptar rapidamente aos eventos históricos que muitas vezes atropelavam o tempo e que não tinham o planejamento eficaz. Assim se formam as favelas em um país alforriado, com uma industrialização capenga, fazendo com que os negros fossem segregados nos altos morros sem a mínima condição de sobrevivência, sem trabalho, lutando para sobreviver em uma nova realidade sem os restos dos senhores. Sem nenhuma transição histórica pacífica, o brasileiro aprende a ser violento para sobreviver, sem perder a ternura.
Penso às vezes que exigimos muito de um jovem país que nasce de uma gravidez quase indesejada, pois
dizem que Cabral queria chegar às Índias; que antes dos europeus éramos verdadeiramente independentes, entre um universo de etnias, idiomas, deuses e crenças. No entanto, não espere que o texto comece a remoer o passado de uma colonização fundamentada em ideias de dominação e ocupação! Como podemos exigir pensamentos e humanismo que só viriam com adventos de luzes mais modernas?
Agora mesmo, infelizmente, em pleno século XXI vemos uma nova ordem mundial se organizando revestida de um velho e arcaico imperialismo. Ganhamos um idioma, que é o único elemento unificador de um povo em um território continental com vários países dentro de um só. Deixemo-nos do revanchismo histórico colonialista ou até mesmo o protesto simplista “devolve meu ouro”! É consenso entre alguns historiadores que a cora portuguesa gastou mais com a construção do Brasil do que o valor do ouro levado a Portugal.

Portugal e Brasil possuem “Traços de União”, como o título de um fabuloso livro do Poeta Miguel Torga, e nenhum nacionalismo barato vai quebrar esse laço. O corpo do nosso libertador, D. Pedro, está no Brasil e seu coração está em Portugal para simbolizar essa eterna união.
Não vamos exigir muito de um jovem país que ainda nem discutiu seus tantos erros do passado, que caminha com um povo que incrivelmente acorda com uma alegria e uma força que não temos a certeza de onde vem! Talvez de uma miscigenação de povos do mundo... negros, índios, brancos, asiáticos e todas as cores que criam a magia de se ser brasileiro!
Assim, esperamos, ansiosos, que um dia o Brasil seja independente. Maldita a elite brasileira!
100 anos da travessia aérea do Atlântico Sul invocados na Penha Equipa redatorial
Neste ano de 2022 perpassam 100 anos da travessia aérea do Atlântico Sul pelos portugueses Gago Coutinho (1869-1959) e Sacadura Cabral (1881-1924), ambos invocados na Penha pelo seu feito.
De facto, num penedo situado entre o Santuário e o Hotel da Penha, José Luís de Pina (1874-1960) esculpiria uma escultura gravada na rocha, inaugurada em 12 de junho de 1927, que evoca e presta a homenagem da cidade a ambos os aviadores, que em 1922 empreenderam a primeira travessia aérea entre a Europa (Lisboa) e a América do Sul (Rio de Janeiro).
De facto, conhecido como Penedo dos Aviadores, a efeméride recorda na rocha de granito esta façanha da história aeronáutica nacional, cujos dizeres lapidados no local, especificam claramente o seu intento: “Guimarães, aos Aviadores! A Gago Coutinho e Sacadura Cabral 1922”.
Com efeito, com a representação de uma grande águia cujo bico aponta o Brasil e que em suas garras agarra a Cruz de Cristo cruzada pelo escudo português, a escultura demoraria cerca de cinco anos a ser esculpida.


Penedo dos Aviadores, na Penha
Efetivamente, como escreve Lino Moreira da Silva na sua obra “As Imagens de Nossa Senhora da Penha (Guimarães)/Dicionário da Penha” (2020:543), a consecução da iniciativa passaria por várias etapas, desde a constituição da Comissão do Monumento aos Aviadores até à sua inauguração: “A Comissão do Monumento aos Aviadores foi constituída por João Gualdino Pereira, José Gilberto Pereira, A.L. Carvalho, José de Pina, Casimiro José Fernandes e Manuel Pereira Mendes. Em 01.08.1922, a Câmara Municipal de Guimarães recebeu listas de subscrição, por si abertas, para custear o monumento. Em 1925, realizou-se um “atraente sarau”, no Teatro D. Afonso Henriques pela Associação dos Empregados do Comércio e pela Comissão defensora da Capela-Mor de Santa Clara, para se angariarem fundos para a conclusão do monumento. A sessão foi constituída por uma conferência, por Jerónimo de Almeida,
seguindo-se a representação da comédia “Os Velhos” de D. João da Câmara. O monumento foi inaugurado, em 12.06.1927, no acto de conclusão do Congresso Eucarístico Nacional de Guimarães, com Peregrinação à Penha, pelos prelados presentes. Na cerimónia, A.L. Carvalho explicou o monumento e o Bispo de Beja fez uma prelecção. Tocou a Banda de Música dos Bombeiros Voluntários de Guimarães. Foi assinado um “auto de inauguração”, por todos os prelados presentes. (…)”

Porém, como se disse, esta travessia aérea ocorreu em 1922 e juntou dois homens experientes, que se conheceriam nas antigas colónias portuguesas, em África, e partilhavam entre si preocupações acerca da orientação e localização no alto-mar: Gago Coutinho, cartógrafo ao serviço da Marinha, navegador da viagem e Sacadura Cabral, experto aviador e piloto da viagem. Deste modo, a bordo do hidroavião Lusitânia partiriam de Lisboa a 30 de março de 1922, rumo à primeira escala em Las Palmas e daí à Ilha de S. Vicente, em Cabo Verde, onde teriam de proceder a algumas reparações. Novas dificuldades aconteceriam na etapa seguinte, nas ilhas brasileiras de S. Pedro e S. Paulo. Aqui por danificação do meio aéreo foram forçados a seguir por navio até à ilha brasileira de Fernando Noronha e a esperar por novo hidroavião, que seria enviado pelo governo português, que acabaria também por ter uma avaria no motor. De facto, só o terceiro hidroavião, de nome “Pátria”, seria capaz de patrioticamente concluir a odisseia, que após escalas no Recife e outras cidades brasileiras atingiria o Rio de Janeiro a 17 de junho, no ano das celebrações do primeiro centenário da independência do Brasil.
No entanto, não obstante os percalços, a travessia do Atlântico Sul foi um sucesso, provando ser possível percorrer longas distâncias sobre o oceano de forma rigorosa e precisa, utilizando-se apenas instrumentos portáteis de navegação astronómicos como o sextante e o corretor de rumos, invenção que permitia retificar os desvios causados pelos ventos.
José Luís de Pina, nascido na Rua Paio Galvão, em 9 de janeiro de 1874 e falecido em 29 de dezembro de 1960, foi professor de desenho do Liceu de Guimarães, no qual exerceria ainda cargos de vice-reitor e

reitor, na segunda década do século XX, e foi um dos nomes que fez parte da Comissão do Monumento aos Aviadores, sendo o escultor do monumento.
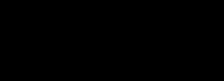
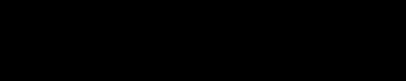
Com efeito, após estudos no Liceu de Guimarães e Escola Industrial de Guimarães e posterior formação superior na Academia Politécnica do Porto, José de Pina regressaria à cidade-berço como um homem comprometido com as causas vimaranenses, como o comprovam as várias funções cívicas e sociais assumidas ao longo da sua vida.
De facto, José de Pina (JP) participaria na Associação dos Bombeiros Voluntários de Guimarães, a partir de 1891, assumindo o seu comando, em 1910, como 2º comandante, em 1933, como 1º comandante, e distinguido como comandante honorário, em 1948, seria vereador da Câmara de Guimarães e Presidente da Comissão de Turismo, muito ligado aos melhoramentos e arqueologia da Penha, e, como não bastasse, seria diretor da Sociedade Martins Sarmento e membro das direções da Santa Casa da Misericórdia e do Hospital de S. Domingos.

De relevante é ainda a sua ligação às Nicolinas e Gualterianas. Com efeito, JP fez parte da Comissão de Ressurgimento das Festas dos Estudantes de Guimarães e foi Juiz da Irmandade de S. Nicolau; e no âmbito das Festas da Cidade é considerado o “ideólogo da Marcha Gualteriana”, autor de vários carros alegóricos e idealizador dos bonecos articulados do desfile.

Várias vezes condecorado por várias entidades, JP seria ainda agraciado com a Medalha de Ouro da Cidade, atribuída em 1948 e homenageado pela urbe vimaranenses em 1954, conjuntamente com o padre Gaspar Roriz.
Igualmente está memoriado na toponímia da cidade, numa artéria entre a Avenida D. João IV e EB 2,3 Egas Moniz e ainda num busto em bronze do escultor António de Azevedo, que foi descerrado na Penha em 1963.
No fundo, um acontecimento com 100 anos que permitiu trazer à Penha esse voo de águias de dois aviadores, que fizeram História e um vimaranense que por estas bandas deixou sobejas obras de dedicação à sua cidade.
Busto em bronze de José de Pina da autoria do escultor António de Azevedo, que foi descerrado na Penha em 1963.

Em 1822, há 200 anos, seria aprovada a Constituição Liberal. Ora, nesse mesmo ano, no mês de outubro, saía do prelo para a rua o jornal Azemel Vimaranense, um dos mais antigos periódicos nacionais e o primeiro do Minho.
No entanto, este periódico fundado por liberais dos quatro costados duraria apenas breves meses. De facto, tendo apenas publicado escassos números, sucumbiria em maio de 1923, ao que se crê após a insurreição da Vilafrancada, conduzida pelas hostes miguelistas.
Imagem retirada de https://www.csarmento.uminho.pt/site/s/hemeroteca/page/azemel

Porém, impresso na Tipografia Vieirense, que se situava na rua Escura (atual Gravador Molarinho), sairia praticamente todas as semanas, ainda que sem dia específico e marcado, custando inicialmente 20 réis. Entretanto, a partir de 1823, o periódico passaria a inserir, após o título, uma pequena gravura: a representação de um almocreve levando o macho, carregado pela arreata.
De destacar ainda que este periódico colocaria Guimarães como a quarta cidade do país a dispor de jornais, após Lisboa, Porto e Coimbra.
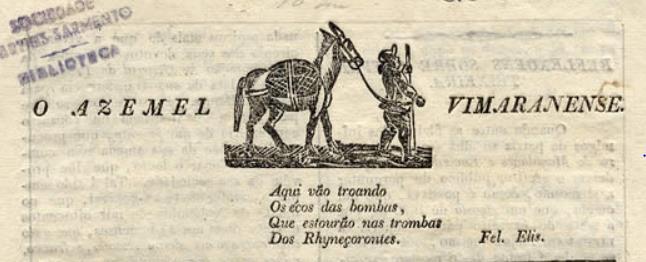
Na sua edição de 30 de outubro de 1822, o jornal esclareceria os seus propósitos: “A principal de todas as virtudes, que deve adornar a pena fina de um escritor público é a imparcialidade; estranho a todos os partidos deve o bem e só o bem de sua Pátria ser o único alvo dos seus desejos e das suas fadigas: e é por isso que o Redator do AZEMEL não teme o turíbulo, nem prostituirá seus incensos à Deusa das Contemplações; ele não descortinará defeitos pessoais, nem intrigas domésticas para entreter a curiosidade e irrisão dos seus leitores. Mas será uma navalha cortante sobre as Autoridades Constituídas, não para as tornar odiosas e desprezíveis aos olhos do público, mas para denunciar seus abusos de poder, quando elas se desregram da Vereda Constitucional.” (…)
De facto, surgido numa época de grande agitação política, o jornal seria, na opinião de A. Tibúrcio Vasconcelos, em artigo publicado na Revista de Guimarães em outubro/dezembro de 1922, aquando da celebração do seu primeiro centenário, “um jornal partidário e agressivo, num meio pequeno em que a maior parte dos seus habitantes não concordava com a sua doutrina e propaganda. “ (…)
E concluiria:
“Tomando de repente uma feição revolucionária e desrespeitosa, um jornal nestas condições numa terra apegada às tradições e preconceitos não podia ser um meio de evolução para novos princípios que defendia. Representou, contudo, um acto de arrojo e uma crença arreigada que tem direito à nossa homenagem.
Os seus exageros, porém, deviam provocar protestos que a seu tempo se manifestariam em represálias cruéis.”
O jornal é ainda referenciado pelo Abade de Tagilde no volume V, página 44, da Revista de Guimarães, que assim o refere:
“Este periódico de combate liberal teve como seus fundadores o egresso Jerónimo Rodrigo, Joaquim Meneses, José de Sousa Bandeira, Manuel Luís Pereira Pinheiro Gouveia e José Joaquim Vieira, que era dono da tipografia”.
Realmente, do jornal faziam parte Frei Jerónimo Rodrigo Meneses, monge natural de Guimarães, Manuel Gouveia, professor de Filosofia, Gramática Latina, Música e Cantochão, mas sobretudo José de Sousa Bandeira, escrivão judicial da comarca de Guimarães, pioneiro do jornalismo português e principal impulsionador da publicação, que viera para Guimarães com o seu pai, em 1808, de quem herdou o posto de trabalho.


Anos mais tarde, em 1828, Bandeira salientar-se-ia ainda no movimento da adesão de Guimarães à Junta do Porto, para a restauração da Carta Constitucional. Efetivamente, como destaca “O Vimaranense” de 15 de janeiro de 1897, “Bandeira acompanhou o exército liberal para a Galiza em 1828 para evitar as perseguições dos absolutistas pelos quais era mal visto (…) A ele se deve que fosse Guimarães uma das últimas terras do reino que reconheceu D. Miguel, pois que a sua admirável firmeza e assídua vigilância contrastavam todos manejos reaccionários”.
Todavia, Bandeira voltaria ao reino empunhando a bandeira liberal. Deste modo, acabaria por ser preso, julgado e degredado para África, donde apenas regressaria após o Duque da Terceira ter entrado na capital, recuperando a liberdade em 25 de julho de 1834. Continuaria, porém, a sua carreira jornalística n’O Periódico dos Pobres, O Artilheiro e Braz Tizano, defendendo os seus ideais.
Curiosamente, o periódico “Azemel Vimaranense” é também referido na obra de Camilo Castelo Branco “A Bruxa do Monte Córdova” (1867), que, a páginas tantas (página 44), assim escreve, sobre os abusos do
clero:
“Ao mesmo tempo, como a filha de Francisco da Teresa se queixasse do atrevimento do frade fidalgo, alvoroçaram-se os ânimos do boticário, do escrivão das sisas e do mestre-escola. O boticário, principalmente, que era liberal e já tinha escrito correspondência para o Azemel de Guimarães e invectivou contra a desmoralização dos frades (…)”.
Porém, dessas raras edições publicadas pelo Azemel Vimaranense existem apenas raros números à guarda da Sociedade Martins Sarmento. Respigamos um dos seus textos publicados nessa época, datado de 10 de janeiro de 1823, sobre um tema que durante parte do século XX também nos foi caro:
“A liberdade de imprensa há sido a maior dádiva, com que as Cortes Constitucionais brindaram os Portugueses (…).

O povo, que não saboreie o direito a publicar o seu pensamento, é um povo escravo; e bem que os tímidos apologistas da censura prévia procurem tirar desta liberdade quadros de susto e melancólica perspetiva (…) graças mil sejam dadas aos PAIS DA PÁTRIA (…)
Meus amados compatriotas, não vos assusteis com a liberdade de imprensa, embora estes mesquinhos vos procurem aferrar, temendo ataques contra a religião dos nossos pais, contra o culto do nosso Deus, contra os bons costumes.” (…)
No fundo, um jornal bicentenário que, apesar da sua vida efémera, deixaria marcas no seu tempo em prol dos princípios liberais. De tal forma marcante, que seriam necessários mais de 30 anos para os jornais regressarem a Guimarães: a Tesoura de Guimarães e o Vimaranense, ambos em 1856.
A 10 de Julho de 1372, foi celebrado, na freguesia de São Salvador de Tagilde, outrora concelho de Guimarães, e, atualmente concelho de Vizela, o denominado pacto ou tratado de Tagilde, celebrado entre o rei D. Fernando e delegados de João de Gante, duque de Lencastre.
O pacto constitui o primeiro fundamento jurídico do futuro tratado de aliança luso-britânico, que ainda hoje perdura. Na circunstância, e de acordo com o tratado, Portugal propunha-se a ajudar o duque de Lencastre, por mar e por terra, contra Henrique II de Castela e Aragão.
Igualmente, o rei português comprometia-se a não adquirir quaisquer terras nos senhorios de Castela, ao passo que, no reino de Aragão, as terras pertenceriam àquele que primeiro as conquistasse.
Em evocação desta ocorrência histórica, em 10 de julho 1953, seria implantado junto à Igreja de Tagilde um padrão comemorativo em pedra, com os símbolos dos reinos de Portugal e Inglaterra.

D. Fernando, o rei Formoso, Último da Casa de Borgonha Na sucessão não foi zeloso E deixou crise enfadonha
Mas a sua Lei das Sesmarias No campo da agricultura Lançou à terra melhorias E mostrou visão futura …
Reparou castelos e muralhas Alargou o comércio externo
Foram estas as suas batalhas De um Portugal mais moderno
A Companhia das Naus instituída E o desenvolvimento da marinha
Foram outras marcas de sua vida Como monarca desta terrinha!
Saibam ainda vossemecês Que, em 1369, por carta régia,

Concedeu graças e mercês A Guimarães, nobre e egrégia.
E unificou a jurisdição dos juízes Do concelho e da vila do Castelo Num só povo e concelho, felizes, Que entre si tinham forte elo! Extinguiu as quatro feiras anuais Que no castelo tinham assento Mas criaria as feiras semanais Que desejou terem seguimento.
E, de facto, 650 anos passados, Todas as sextas-feiras do ano Em Guimarães são feirados Muitos artigos e bom pano!
E a assinatura com a Inglaterra Do Tratado de Tagilde Foi outra honra para esta terra E para a sua gente humilde
O centenário do nascimento do Dr. Augusto Monteiro Dias de Castro (1922-2022)111
António José de Oliveira112


No ano do centenário do nascimento do Dr. Augusto Monteiro Dias de Castro, integrada na programação cultural dos “Banhos Velhos”, realizou-se nas Caldas das Taipas, no passado dia 3 de junho, uma tertúlia sobre a sua vida e obra. Nesta tertúlia mediada pelo historiador e vogal da Direção da Cooperativa Taipas Turitermas António José de Oliveira, estiveram, no painel de convidados, as seguintes personalidades: Dr. Nuno Remísio Dias de Castro, diretor Clinico das Termas das Taipas; Manuel Ferreira, 1º presidente da Direção e cooperador fundador da Cooperativa Taipas Turitermas; Dr. António Joaquim Azevedo Oliveira, membro do 1º e 2º Conselho Fiscal da Cooperativa Taipas Turitermas; e a Doutora Isabel Fernandes, diretora do Castelo, do Paço dos Duques de Bragança e do Museu de Alberto Sampaio. No início desta tertúlia, António José de Oliveira apresentou uma resenha biográfica e profissional do clínico homenageado, recorrendo a fotografias, recortes da imprensa da época e a documentos de arquivo. Posteriormente, o painel de convidados deu o seu testemunho sobre o homenageado. De seguida, o vasto público presente pôde intervir, abrindo-se um frutuoso debate sobre a vida e obra deste reputado clínico.
Fig.1 - Cartaz da tertúlia “Centenário do nascimento do Dr. Augusto Dias de Castro”, integrada na programação dos “Banhos Velhos”
111 Para a feitura deste artigo agradecemos as informações gentilmente cedidas pela Dra Leonor Remísio Dias de Castro e do Dr. António Joaquim Azevedo Oliveira. Neste trabalho recorremos à imprensa periódica da época (“Noticias de Guimarães” e “Comércio de Guimarães”) e a documentação do Arquivo Municipal Alfredo Pimenta e do Arquivo Particular de José de Oliveira.
112 Doutorado em História de Arte em Portugal; Docente do AE Francisco de Holanda; Investigador do CITCEM
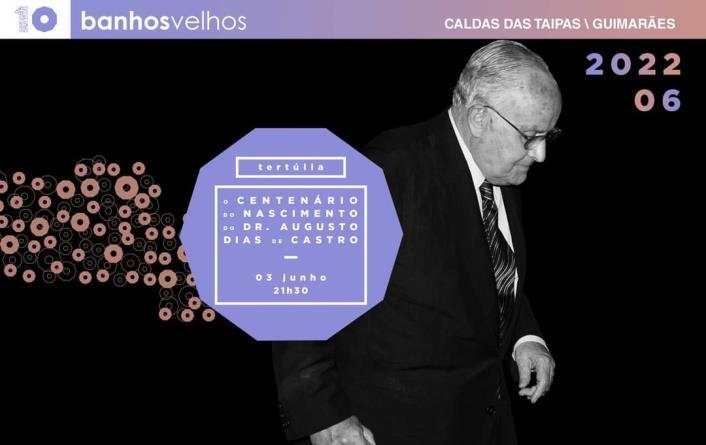
No final, as oito dezenas de pessoas presentes dirigiram-se ao piso superior dos “Banhos Novos”, para assistirem à simbólica homenagem realizada pela Direção da Cooperativa Taipas Turitermas. Neste momento intimista, a Direção homenageou o Dr. Augusto Dias de Castro com a atribuição do nome do homenageado à sala de reuniões, passando a denominar-se: “Sala de reuniões Dr. Augusto Dias de Castro”. A cerimónia da nova designação foi concretizada pela Dra. Sofia Ferreira, Presidente da Cooperativa Taipas Turitermas e pelo Dr. Nuno Remísio Dias de Castro, diretor clínico das Termas e filho do homenageado. Esta sala de reuniões da direção, que recebeu a nova designação, constituía parte da antiga residência do diretor clínico das Termas, na qual o Dr. Augusto Dias de Castro viveu juntamente com a sua família cerca de duas décadas.


Fig. 2 - Tertúlia de homenagem ao Dr. Augusto Dias de Castro, 3 junho 2022 (créditos GRUA)
Fig. 3 - Tertúlia de homenagem ao Dr. Augusto Dias de Castro, 3 junho 2022 (créditos GRUA)

Este evento abriu a programação cultural dos “Banhos Velhos”, organizada pela Cooperativa Taipas Turitermas. Esta tertúlia aberta ao público, realizou-se no dia 3 de junho, pelas 21h30m, no estabelecimento termal (“Banhos Novos”), sede da Cooperativa Taipas Termal, da qual o Dr. Augusto Dias de Castro foi cooperante fundador e 1º presidente da Assembleia Geral desta instituição criada em 1985. Neste edifício inaugurado em 1908, o Dr. Augusto Dias viveu várias décadas no piso superior, adaptado em 1914 e em 1948, para residência do diretor clínico dos dois estabelecimentos termais (“Banhos Velhos” e “Banhos Novos”).
Este eminente médico nasceu a 10 de março de 1922, na rua de Santa Luzia, na cidade de Guimarães. Filho do reputado médico vimaranense Dr. Mário Dias Pinto de Castro e de Maria Augusta Monteiro Dias de Castro, recebe uma educação liberal e humanista que viriam a influenciar a sua personalidade. Em 1929,
inicia os seus estudos na escola Primária de Santa Luzia. Prossegue os seus estudos no Liceu Martins Sarmento, localizado no extinto Convento de Santa Clara. Com 17 anos, ruma ao Porto, para concluir os estudos liceais no Liceu Rodrigues de Freitas (antigo Liceu D. Manuel II). No ano letivo de 1941-1942, ingressa tal como o seu pai, na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, concluindo a licenciatura em medicina em 1946. Após terminar o curso, inicia a sua profissão no Hospital da Misericórdia de Guimarães. Em 1947, frequenta e conclui o Curso de Hidrologia e Climatologia Médica da Universidade do Porto. Será com esta especialização que o Dr. Augusto Dias irá iniciar a sua ligação profissional e afetiva à vila de Caldas das Taipas. Em 1948, inicia a sua colaboração na Estância Termal de Caldas das Taipas, como Médico Adjunto do diretor clínico, o reputado Prof. Doutor Miguel Mendes Alves. Em 1949, casa com Maria Adelaide Remísio de Castro Pereira Lopes. Após o casamento passa a viver no 1º andar do edifício do Estabelecimento Termal de Caldas das Taipas até 1964. Aí nasceram 4 dos seus 6 filhos. A partir de 1949, exerce a sua atividade nas Casas do Povo de Briteiros e das Taipas, ocupando ainda o cargo de Diretor Clínico do Posto Médico das Taipas. A partir de 1962 exerce funções de Diretor Clínico das Termas de Caldas das Taipas, concessionadas, na altura, à Empresa Termal das Taipas, SARL.
Em 1970, é convidado pelo então Diretor Geral de Saúde, Dr. Arnaldo Sampaio, para iniciar, com mais dois colegas, um projeto piloto para instalar centros de saúde em Guimarães, Fafe e Vila Verde. Frequenta, então, um curso de saúde pública em Lisboa, após o que é nomeado Diretor do Centro de Saúde de Guimarães e Delegado de Saúde. Em 1977 assume funções de Vogal Médico na ARS de Braga, por dois anos. Ao longo do seu percurso profissional, foi ainda delegado de Saúde do Concelho de Guimarães e diretor do Centro de Saúde de Guimarães e de Caldas das Taipas. Aposenta-se da função pública em 1986. No entanto, as suas atividades profissionais e associativas prosseguem.
Com a constituição da Cooperativa Taipas Turitermas CIPRL (10 dezembro de 1985), torna-se seu cooperante fundador e o primeiro Presidente da Assembleia Geral. Continua como Diretor Clínico do Estabelecimento Termal até à sua morte. Em 1986, em coautoria com o Prof. Dr. Ramiro Valentim, publica um livro


denominado “Estudo Biológico das águas termais de Caldas das Taipas”, editado pela Cooperativa Taipas Turitermas.

Em 1997, é nomeado para o Conselho Geral do Hospital Senhora da Oliveira. Os anos seguintes são destinados à clínica privada e já depois dos 80 anos opta por se dedicar por completo às Termas, que lhe foram sempre tão queridas. Já com 90 anos, no verão de 2012, foi visita assídua ao seu consultório no Balneário, onde atendeu vários “aquistas”, como gostava de denominar os seus pacientes.

Além desta vertente médica, o Dr. Augusto dedicou a sua vida igualmente às instituições taipenses. Em 1947, é membro dos órgãos sociais da Junta de Turismo da Estância Termal das Taipas. Nas décadas de 50 e 60, do século XX, foi eleito Presidente da Assembleia Geral da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Caldas das Taipas e do Turismo Hóquei Clube das Taipas. Em 1951, integra a Comissão Executiva das Festas da Vila e de São Pedro. É acionista da Empresa Termal das Taipas, SARL.
Além desta intensa atividade, o Dr. Augusto foi um grande entusiasta da História de Arte, colecionando ao longo da sua vida diversa bibliografia sobre o tema, e adquirindo faiança e cerâmica portuguesa, gravuras do século XIX e esculturas de Senhoras de Oliveira e outras obras de arte. Sempre que solicitado, emprestava a sua coleção a museus nacionais, nomeadamente ao Museu de Alberto Sampaio para integrarem exposições temporárias.
O Dr. Augusto Dias de Castro faleceria a 9 de fevereiro de 2013, sendo, entretanto, alvo de várias homenagens. Seria homenageado, ainda em vida, em outubro de 1999, como Profissional do Ano, pelo Rotary Club de Caldas das Taipas. A 24 de junho de 2010, aquando da realização do 1º Encontro de Terapêutica Termal, o Dr. Augusto Dias de Castro seria alvo de homenagem, com a presença do Secretário de Estado da Saúde, Dr. Manuel Pizarro. Nesse mesmo dia, no âmbito da requalificação dos “Banhos Velhos”, o Dr. Augusto seria igualmente homenageado pela Cooperativa Taipas Turitermas, numa cerimónia que decorreu nesse espaço emblemático das Caldas das Taipas.
Após a sua morte, “O Dr. dos Banhos”, carinhosamente assim conhecido pela população local e pelos aquistas, seria homenageado pela Junta de Freguesia de Caldelas, a 19 de junho de 2013, com a medalha de honra da freguesia. Durante o VI Congresso da Sociedade Portuguesa de Hidrologia Médica e Climatologia, que decorreu entre 7 a 9 de junho de 2013, seria homenageado, com o descerramento de uma placa evocativa, que hoje se encontra no hall de entrada das Termas, junto ao consultório do diretor Clínico das Termas das Taipas.
Terminamos este texto, com as palavras do próprio Dr. Augusto Dias de Castro, que dedicou a sua vida ao termalismo e aos aquistas, na qual define deste modo as termas:
“

Curam poucas vezes, melhoram muito, consolam sempre” (in entrevista conduzida por Teresa Ferreira, “Noticias de Guimarães”, 26 de maio de 2006).

José Maria Pedrosa d’Abreu Cardoso (1942-2021), nascido em Polvoreira, Guimarães, foi um melómano, conceituado investigador, que pautou a sua busca pela singularidade da música sacra e música histórica portuguesa. Doutorado em Ciências Musicais Históricas pela Universidade de Coimbra, teve o mérito de alargar a investigação em torno da Música Sacra, dando uma maior visibilidade a documentos antigos que sem ele ficariam para sempre encerrados nas bibliotecas.
É o caso do manuscrito musical pertencente à Sociedade Martins Sarmento (SMS), em cuja biblioteca foi catalogado como SL11-2-4, datado aproximadamente de 1580. Este códice quinhentista, por ele descoberto, é um exemplar raro sobre a temática do canto da Paixão, embora não seja o único, pois existe outro exemplar proveniente do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra (c. 1580), e que faz parte do acervo da Biblioteca da Universidade de Coimbra. Tratam-se de preciosos manuscritos do século XVI que serviram de base à
sua Tese de Doutoramento, em 1998.
Em 2006, dando continuidade à sua investigação, publica através da Imprensa da Universidade de Coimbra O Canto da Paixão nos Séculos XVI e XVII: A Singularidade Portuguesa. Esta obra é apresentada em Guimarães, no âmbito do Simpósio Música e Músicos em Guimarães, que então se realizava, organizado conjuntamente pela Sociedade Musical de Guimarães e pela Universidade do Minho. Dando continuidade ao seu estudo, o Professor José Maria Pedrosa Cardoso viria a apresentar, em 2013, uma imponente edição fac-similada, editada pela SMS, com o apoio da Fundação Cidade de Guimarães, entidade criada no âmbito da Capital Europeia da Cultura 2012, sob o título O Passionário Polifónico de Guimarães. Este livro bilingue (português e inglês) compreende o estudo, transcrição e revisão do códice quinhentista por José Maria P. Cardoso e musicografia de Eduardo Magalhães. Desta publicação faz parte um DVD com a interpretação do conteúdo musical pelo grupo Voces Caelestes, dirigido por Sérgio Fontão.
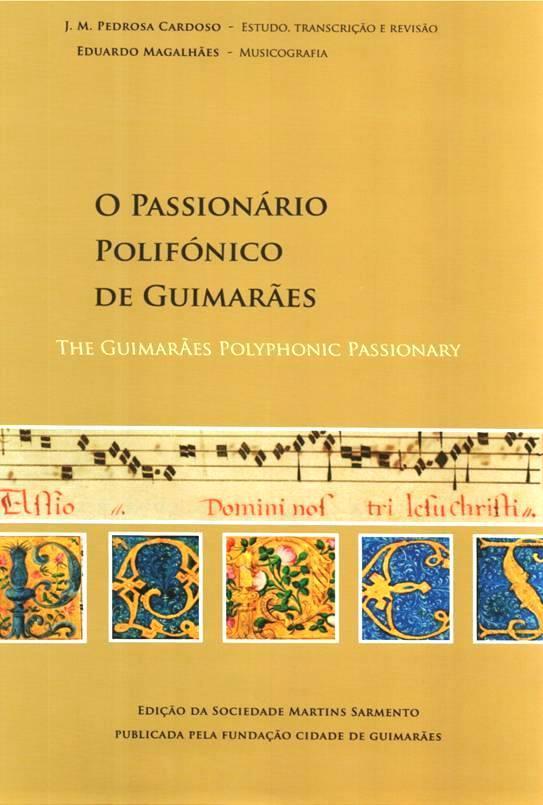
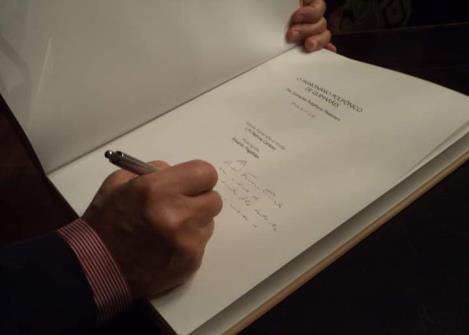
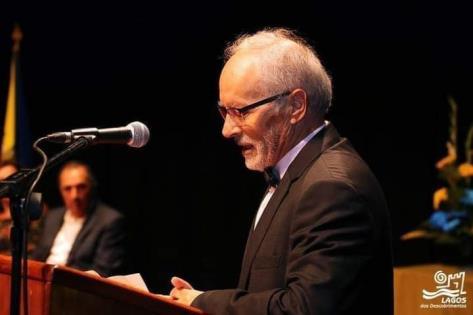

Os Passionários eram livros litúrgicos que continham a música para os textos da Paixão de Cristo, que se cantavam na semana santa. O manuscrito original do Passionário de Guimarães é ornamentado com capitulares a ouro, com motivos fitomórficos e vegetais. De acordo com José Mª Cardoso, “além do cantochão das Paixões segundo S. Mateus, S. Lucas e S. João, do pregão pascal e também das lições de matinas, na versão tradicional portuguesa apresenta algumas frases em polifonia.” É um documento singular pela existência de alguns versículos a três vozes, particularmente alguns ditos de Cristo, que são assim enfatizados e normalmente entoados em cantochão. Outra singularidade é a presença de um canto monódico visivelmente mensuralizado, ou seja, submetido a regras de ritmo muito diferenciado.
Para além do trabalho académico de uma vida, cultivou e
estreitou laços com a comunidade vimaranense, através da sua participação ativa no seio de diversas instituições vimaranenses, como a Sociedade Martins Sarmento, com a qual colaborou no âmbito da Capital Europeia da Cultura, em 2012 (entre outras atividades), a Sociedade Musical de Guimarães, de que era Presidente do Conselho Científico do Centro de Estudos e de Investigação Musical (CEIM) e a Câmara Municipal de Guimarães. Esta última entidade acolheu, em 2016, o seu projeto de um Festival Internacional de Música Religiosa em Guimarães, o qual se passou a realizar anualmente, na quadra pascal. Durante a semana santa, este evento passou a disponibilizar à comunidade vimaranense e visitantes, para além das tradicionais celebrações religiosas, conferências, exposições e concertos contemplando grandes coros, excelentes solistas e conjuntos instrumentais, com nomes destacados da música religiosa.
A mais recente edição do Festival Internacional de Música Religiosa de Guimarães aconteceu entre os dias 10 a 16 de abril de 2022, tendo como figura central o Professor José Maria Pedrosa Cardoso, fundador do evento e falecido a 8 de dezembro de 2021. No âmbito deste evento, a 15 de abril, realizouse uma conferência em sua homenagem seguindo-se a interpretação de trechos do Passionário pelo Coro Voces Caelestes. A sua vida e obra foi revisitada por Elisa Lessa, Sérgio Fontão, Pedro Moreira e Manuela Pedrosa Cardoso, sua esposa. A homenagem decorreu no Salão Nobre da Sociedade Martins Sarmento, casa que marcou e que editou o seu Passionário Polifónico de Guimarães, na Capital Europeia da Cultura.

Autor de vários livros e numerosos artigos, conferencista convidado em Portugal e no estrangeiro, deixou um legado assinalável na investigação musicológica portuguesa, com títulos como: - O Teatro Nacional de S. Carlos - Guia de Visita (1991); Fundo Musical da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (1995); Carlos Seixas, de Coimbra: Ano Seixas. Exposição Documental (coord. e autor, 2004); O Canto da Paixão nos Séculos XVI e XVII: A Singularidade Portuguesa (2006); Cerimonial da Capela Real: Um manual litúrgico de D. Maria de Portugal (1538-1577) Princesa de Parma (2007); História Breve da Música Ocidental (2010); Sons do clássico: No 100º aniversário de Maria Augusta Barbosa (coord. e autor, 2012); O Passionário Polifónico de Guimarães/The Guimarães Polyphonic Passionary (2013); O Grande Te Deum Setecentista Português/The eighteenth century Portuguese Te Deum (2019).
A nível da atividade artística e profissional, é de referir ainda que fundou e dirigiu vários coros, nomeadamente o Coral Redentorista de Cristo Rei em Vila Nova de Gaia; Coral de Letras da Universidade de

Coimbra e o Grupo Coral de Lagos, sendo que esta última cidade, em 2016, através da sua Câmara Municipal, lhe prestou homenagem, tendo recebido ainda em vida, a Medalha de Mérito Municipal, grau ouro, pelos serviços prestados à cidade, no âmbito da cultura musical, entre 1975 e 1982.
Entre 1987 e 1989, acumulou a docência na Universidade Nova de Lisboa e no Conservatório Nacional, para além do cargo de assessor de João de Freitas Branco na direção artística e de produção do Teatro Nacional de S. Carlos.
A partir de 1992, exerceu a docência na cadeira de História da Música na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, mais tarde alargada ao mestrado em Ciências Musicais e ao Curso de Estudos Artísticos da mesma Faculdade, que veio a dirigir na área da Música até à sua aposentação, em 2009.
Cardoso, José Maria Pedrosa. O Canto da Paixão nos Séculos XVI e XVII: A Singularidade Portuguesa. Coimbra: Imprensa da Universidade, 2006.

Cardoso, José Maria Pedrosa. O Passionário Polifónico de Guimarães / The Guimarães Polyphonic Passionary, 2013.
“Cantaremos” e “Gente d’aqui e de agora” são dois títulos dos vários álbuns de Adriano Correia de Oliveira (1942-1982), um dos “cantautores” que, de facto, fez jus à denominação dos seus trabalhos e cantou como poucos, durante cerca de duas décadas, “Cantigas Portuguesas”, assim se intitularia o seu último álbum.
De facto, Adriano Correia de Oliveira, nascido no seio de uma família conservadora de vitivinicultores e panificadores, no Porto, em 9 de abril de 1942 e falecido em 16 de outubro de 1982, perfaria, em 2022, 80 anos de nascimento e 40 anos da sua morte, pelo que, além das condecorações recebidas a título póstumo, em 1983 (Comenda da Ordem da Liberdade) e em 1994 (Grande Oficial da Ordem do Infante D. Henrique), merece acima de tudo o tributo e o reconhecimento pelas suas interpretações musicais.
Realmente, perguntamos, quem não conhece a sua interpretação musical do poema de Manuel Alegre “Trova ao vento que passa” (1963), musicado por António Portugal, que se tornaria uma espécie de hino de
resistência à ditadura salazarista?
“Pergunto ao vento que passa Notícias do meu país E o vento cala a desgraça O vento nada me diz. (…)

Mesmo na noite mais triste em tempo de servidão há sempre alguém que resiste há sempre alguém que diz não.”
Com efeito, considerada a “Grândola antes da Grândola”, a trova transformar-se-ia numa poderosa canção de protesto e intervenção, subversiva e revolucionária, a que se seguiriam outras com poemas de Manuel Alegre, como aquelas integradas no álbum “O Canto e as Armas” (1969), gravadas quando Adriano e o amigo Rui Pato cumpriam o serviço militar obrigatório na Escola Prática de Cavalaria, em Santarém, tendo como instrutor Salgueiro Maia.
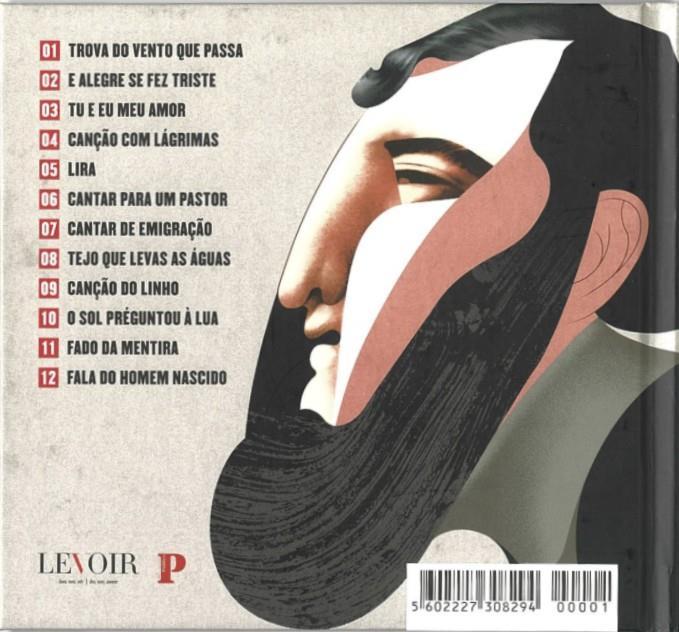
Conta e recorda Rui Pato: “Eu fui para o estúdio e ele aproveitou um dia que estava de ronda da Polícia Militar para ir gravar. Encontrámo-nos, ele entrou no estúdio de capacete e pistola, colocou-a em cima do piano e gravámos o disco. O Canto e as Armas, curiosamente, é gravado com ele armado.”
No 12 de junho de 2022 passaram 80 anos que Anne Frank, no dia do seu 13.º aniversário, começou a redigir o seu diário, no qual escreve convictamente “espero confiar-te, como nunca pude confiar em ninguém, e espero que venhas a ser uma grande fonte de conforto e apoio”.
De facto, a escrita do seu diário iniciar-se-ia na cidade de Amesterdão, em 12 de junho de 1942, e constitui, como sabemos, um importante testemunho da ocupação nazi.
Com efeito, “O Diário de Anne Frank” relata esses tempos que durariam até 1 de agosto de 1944, dia em que Anne e a sua família, bem como outros ocupantes judeus da casa, onde se escondiam dos nazis, seriam aprisionados.
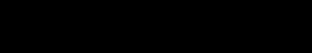
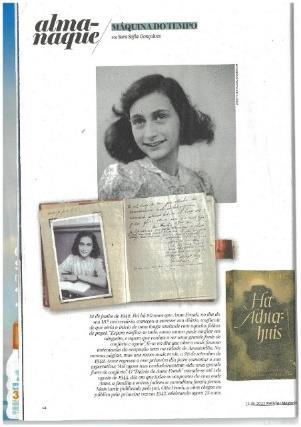
Igualmente, passam 75 anos que a obra “O Diário de Anne Frank” seria publicada pelo seu pai Otto Frank, já no pós-guerra, em 1947.
Acrescente-se, por curiosidade, que, na recente iniciativa “Miúdos a Votos”, promovida pela revista “Visão Júnior” e a Rede de Bibliotecas Escolares, o “Diário de Anne Frank” ocupa a terceira posição entre os livros mais votados pelos alunos das escolas portuguesas, quer no 2º. quer nos 3º. ciclos, quer no ensino secundário.
In, Notícias Magazine de 12 de junho de 2012, p 12

Romaria Grande de S. Torcato festeja 170 anos Equipa redatorial
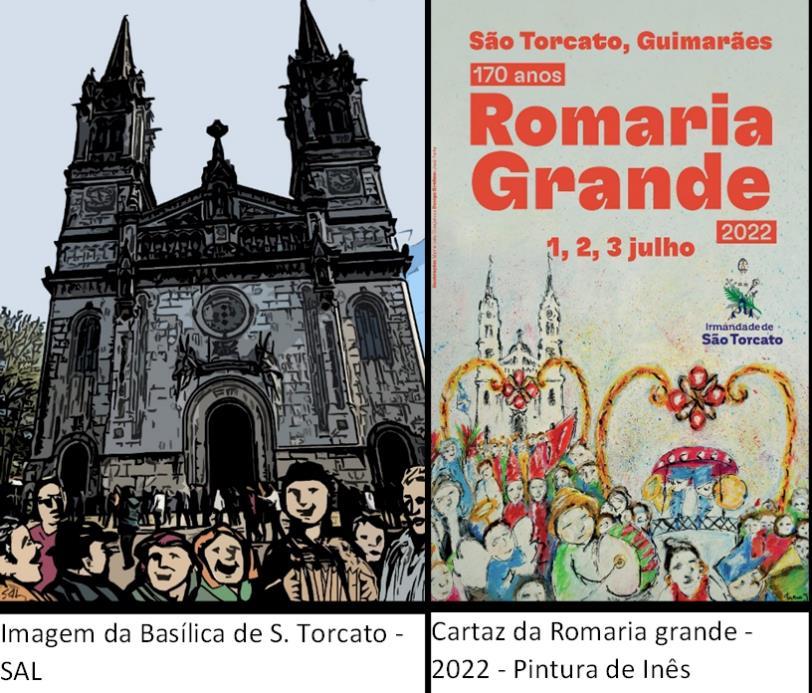
Neste ano de 2022, perpassam 170 anos da transladação do corpo de S. Torcato desde o antigo Mosteiro e atual Igreja Paroquial ou Igreja Velha para o novo Templo, atual Basílica de S. Torcato, cujas obras se iniciariam em 1825.
Na altura, o novo Templo estava reduzido à capela-mor, local onde desde 4 de julho de 1852 seria exposto a veneração pública a relíquia do corpo inteiro de S. Torcato, sob elegante baldaquino. Um santuário que, porém, demoraria cerca de 190 anos a ser concluído, a partir dum projeto do alemão Bohnfledt, posteriormente orientado pelo arquiteto Marques da Silva e que, muito recentemente, em 2020, seria consagrado como basílica.
Ora, esta data de transladação, que agora celebra 170 anos e coincide com a primeira Romaria Grande, foi referenciada pelo vimaranense João de Meira (1881-1913) na sua obra “Eusébio Macário em Guimarães”. Efetivamente, como admirador convicto, Meira leva a cabo, com a mestria que se lhe reconhece, a arte do pastiche e imitação do estilo camiliano. De facto, trazendo o boticário camiliano Eusébio Macário de terras de Basto até Guimarães, para aqui abrir uma botica na Porta da Vila, o nosso João de Meira conduz o protagonista e sua esposa Eufémia Troncha a terras de Guimarães e depois a S. Torcato, exatamente no dia da cerimónia de transladação do Santo, que os impele a vivenciar a festa da primeira Romaria Grande e, como não podia deixar de ser, no calor da tarde, a viver uma novelazinha passional à laia do mestre imitado (que obviamente aqui não desvendaremos, convidando o nosso narratário à sua leitura): “Eram três horas da tarde de um domingo de Julho. Enorme multidão enchia os terreiros, em frente da capela do Santo” (…)
“Fazia um calor sufocante, e todo aquele gentio numa grande alegria expansivamente pagã, esperava a transladação do mártir S. Torcato, feita com pompa solene e vistosa assistência, da igreja paroquial para capela primitiva, recentemente construída ali, nos Penedos de Maria do Monte de Maio.”
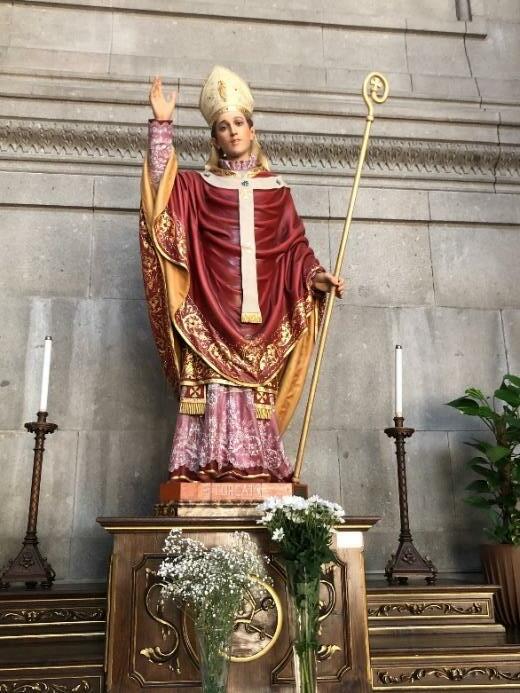
Mas Meira conta-nos ainda a história do Santo, provavelmente fundamentado na obra de Domingos Silos “Vida Preciosa e Glorioso Martírio de São Torcato: “Atrás da Eufémia Troncha (esposa de Eusébio), no mesmo palanque estava o padre Silos, um antigo franciscano, prior de Vila do Conde ( ), viera instalar-se ali, acompanhado de um sobrinho (…)Foi assim que ela veio no conhecimento da vida do santo. Silos narrava ao sobrinho que Torcato descendia da velha família romana de igual nome.”
Imagem de S. Torcato, SAL
Deste modo, contrariando a opinião de que S. Torcato fora um discípulo de S. Tiago, natural da Citânia de Briteiros e batizado no Templo de Ceres da praça do peixe, em Guimarães, acrescentaria:

“Torcato era de Toledo, em cuja Sé iniciara a carreira sacerdotal e donde partira a ocupar o sólio episcopal de Iria e mais tarde o do Porto, até que, havendo-se tornado um modelo de virtudes celebrado em toda a Espanha, o arcebispo de Braga, num concílio presidido por el-rei Egica, (rei dos visigodos) resignara nele, enquanto os outros bispos repetiam maravilhados: - Bonum et justum est! (…)
Foi quando S. Torcato pastoreava Braga que se deu aquela grande desgraça da entrada dos mouros na Península. Comandava-os um chefe cruel chamado Tarik, e tiveram depois outro, não menos cruel, chamado Muça. (…)

Mal S. Torcato soube que Muça se avizinhava de Braga foi ao seu encontro, revestido dos ornamentos sacerdotais, suplicando-lhe que poupasse as vidas e respeitasse a religião dos vencidos. Encontraram-se ali em cima, onde viste a Fonte Santa. O capitão não quis escutar as palavras do Santo prelado e descarregou sobre ele o golpe de morte, sendo logo trucidados quantos o acompanhavam. Isto assim é o que vem nos bons autores. O mais são histórias, fábulas e invenções do povo.”
De facto, esta transladação foi festejada pelo povo, que queria o santo na sua freguesia. Mas nem sempre foi assim ao longo dos tempos, pois o corpo incorrupto de S. Torcato era bastante desejado. Deste modo, três tentativas de sua transladação ocorreriam, todas elas frustradas:
- a primeira, em 1501, quando o rei D. Manuel I ordenou a concentração nas sedes concelhias das relíquias dispersas e a consequente transladação do corpo do Santo para a Colegiada de Guimarães, decisão que mereceria a oposição popular; - a segunda, em 1597, quando o arcebispo D. Agostinho de Jesus e Castro ordenou a transladação do corpo do Santo para a Sé de Braga, tendo o povo resistido à ordem com o toque dos sinos a rebate e armando-se com massarocas (pedras) contra quem quisesse “roubar” o santo; - a terceira vez ocorreu por parte do arcebispo de Braga, D. Sebastião de Matos e Noronha, em 1637. Todavia, todas as tentativas sairiam goradas, o que levou o povo a proclamar: “São Torcato, corpo santo Trancai as portas por dentro Que o Arcebispo de Braga Quer o vosso rendimento.”.
Deste modo, S. Torcato aqui ficaria, exceto um pequeno relicário que está à guarda do Museu Alberto Sampaio, a única parte do Santo que conseguiu sair desta freguesia, que a partir 1995, seria elevada a vila. Efetivamente, a vila está indelevelmente ligada ao Santo, de tal forma que as suas três festividades mais importantes recordam os seus passos:
- a Feira dos 27, no vigésimo sétimo dia do mês de fevereiro, que coincide com o dia da chacina pelos muçulmanos dos 27 mártires cristãos e companheiros de martírio do santo;
- a Romaria Pequena, realizada anualmente a 15 de Maio, que celebra e assinala a descoberta do corpo incorrupto do santo, na zona onde seria erigida a Capela da Fonte do Santo, lugar em que os romeiros habitualmente se deslocam e bebem ou levam água;
- a Romaria Grande, no 1º. Domingo de Julho, que invoca a transladação do corpo do Santo da Igreja Paroquial para o santuário, em 1852.
Curiosamente, um santo que terá sido o primeiro mártir do cristianismo na Península Ibérica, mas que ainda não foi canonizado pela Igreja Católica, ainda que santificado pelo povo e que entre muitos romeiros contaria também com a visita de Camilo Castelo Branco, conforme o escritor confessa nas suas “Memórias do Cárcere” (1862):
“Das Caldas fui a S. Torquato visitar a múmia do miraculoso santo. Comprei um livrinho que historiava conjeturalmente a vida e morte de Torquato, e um panegírico do mesmo pelo famoso Silos, que já passou desta vida. Beijei devotadamente o pé do santo e comprei uma nóminas, imagem e fitinhas milagrosas”.
Efetivamente, um santo milagreiro que é tido como padroado de todos os males, isto é, como expressa Augusto Santos Silva, na sua tese de doutoramento e obra “Tempos Cruzados – um estudo interpretativo de cultura Popular”, se institui como um médico santificado “de clínica geral”, uma vez que tanto atende às necessidades do corpo como da alma, às enfermidades físicas e sucessos profissionais, como ainda ao êxito agrícola ou à livração do serviço militar.
Todavia, S. Torcato, para além de padroado de todos os males, é também popularmente venerado como padroeiro da dor de cabeça e, por isso, os devotos põem o chapéu do santo na cabeça.

170 anos de Romarias Grandes, de festejos profanos e religiosos, que à laia dos tempos medievos das cantigas de amigo continua a ser a fonte de promessas, divertimento e amores, de devotos, foliões e peregrinos:
“Mosteiro de S. Torcato Tens duas pedras assentes Uma é dos namorados Outra dos padecentes.”
Mas acima de tudo, a propósito destes 170 anos da Romaria Grande, uma vila a agendar para visita, que
além dos sítios e monumentos mencionados pode ainda oferecer o Museu Etnográfico e Arte Sacra, ponto de referência de artefactos desta área rural e objetos artísticos e religiosos e ainda ofertar bons espaços de lazer.
Osmusiké, no seu CD, Gentes de Guimarães, não resistiram também a incluir uma música sobre S.Torcato que podem ler a seguir e ouvir no link: https://soundcloud.com/osmusike/gentes-de-guimaraes

A vila de São Torcato É referência nacional! É vida! É religião! É herança cultural.
Pelo corpo de São Torcato Tem-se veneração! Morto e encontrado no mato Deu origem a peregrinação.
Na vida da aldeia Cresceram as tradições À volta deste culto Ao longo de gerações.
Os moinhos do rio Selho Subsistem em laboração
E foram fundamentais Ao povo da região.
O Museu etnográfico Tem ferramentas diversas, Peças do trabalho do linho, Artesanato e ofertas.
A escola de cantaria Jovens andou a formar.
Do Minho Grande Romaria, Onde ranchos vão dançar.
A Capela da Fonte do Santo É da tradição visitar. Com a promessa cumprida A Guimarães vamos regressar
Os Bombeiros Voluntários de Guimarães assinalam 145 anos de vida
João Pedro Castro
 Presidente da Direção
Presidente da Direção

O dia 19 de março de 1877 marca o início de uma nova era, marca o início da história dos Bombeiros Voluntários de Guimarães (BVG).
Contudo, volvidos 145 anos, é importante conhecermos os valores e características patentes na nossa formação e que ainda hoje continuam bem presentes.
Desde logo a resposta à tragédia e à adversidade, na medida em que resultante de um incêndio, ocorrido em 1869, que originou diversos mortos e a destruição de edificado, começou a surgir a ideia de criar uma corporação de Bombeiros.

Importa também percebermos que está patente, desde sempre, a capacidade de com pouco fazermos muito e de nos reinventarmos constantemente, visto que, na formação desta corporação, tínhamos apenas 28 bombeiros e uma motobomba, sendo que soubemos, ao longo dos anos, reinventarmo-nos, continuando a garantir o socorro à população.
Na génese dos Bombeiros também está o facto de termos nascido do povo. Os Bombeiros são do povo e para o povo, daí muitas vezes sermos considerados o “exército do povo”.
Contamos também, desde sempre, com um forte apoio da Câmara Municipal, fundamental no nascimento desta Instituição e fundamental durante toda a sua história.
Temos um passado que muito nos honra, recheado de feitos e de glória. Contudo, não esquecemos os três bombeiros que faleceram ao serviço desta instituição, sendo que sempre farão parte da nossa história.
A celebração dos 145 anos é um marco importante nesta instituição. Nessa senda, construímos um programa arrojado, dinâmico, envolvente, com diversas atividades, e que certamente nos orgulhará a todos.
A história dos Bombeiros Voluntários de Guimarães está inacabada, precisamos de continuar a
transformar memória em futuro.
Necessitamos de continuar a melhorar o nosso quartel, o nosso parque de viaturas, melhorar as condições dos nossos Bombeiros, valorizar o nosso espólio, precisamos de mais bombeiros e associados e é nesse sentido que vamos continuar a trabalhar.
Os próximos meses vão ser muito intensos e desafiantes, precisamos de todos para continuarmos a ter uma corporação de excelência.
Para terminar, partilho convosco uma declaração de Nelson Mandela que considero que representa bem os Bombeiros Voluntários de Guimarães, designadamente que “O vencedor é um sonhador que nunca desiste”, que é aquilo que nós somos visto que temos muitos sonhos e levantamo-nos todos os dias com força e garra, para juntos conseguirmos concretizar os nossos sonhos.
Morte ou Glória.
Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro de Guimarães: 50 anos ao serviço dos Transmontanos radicados em Guimarães
Joaquim Coutinho Presidente da Direção
Ao comemorar os 50 anos de existência a Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro de Guimarães relembra aqui alguns apontamentos da sua história.
Foi fundada no ano de 1972 com o objetivo de fomentar o convívio dos transmontanos radicados em Guimarães. Mas antes dessa data já havia um grupo de transmontanos que se reunia em almoços e piqueniques nos quais se foi fomentando o espírito de união e trasmontanismo que deu origem à fundação da Coletividade.

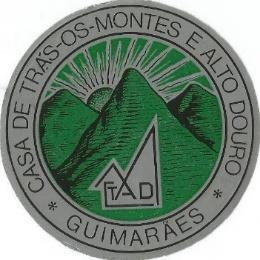
Depois de constituída a nossa Coletividade, as direções começaram a desenvolver várias atividades, para além do convívio diário na nossa sede social, sendo a atividade desportiva aquela que começou a ter mais

aderentes uma vez que havia, na altura, muita juventude na nossa massa associativa. Nesse contexto, foi formada uma equipa de futebol de salão que entrou em vários torneios e que conquistou vários troféus.

Ao longo dos anos, também trouxemos à nossa sede diversos grupos musicais nomeadamente os Trovadores do Cano, o Grupo Coral de Azurém, o Grupo Coral da Coelima, as Tunas Masculina e Feminina da Universidade do Minho (Polo de Guimarães), etc.
Uma das atividades que também conquistou os nossos sócios, ao longo de muitos anos, foram as nossas noites de fados, pelo que trouxemos à nossa sede artistas que nos deliciaram com os seus fados e guitarradas.
Um dos objetivos da Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro de Guimarães, exarado nos seus estatutos, era a obrigatoriedade de as Direções promoverem, em Guimarães, a província de Trás-os-Montes, os seus produtos, os seus usos e costumes, as suas gentes. Nesse sentido foram organizadas várias exposições de produtos de origem transmontana.
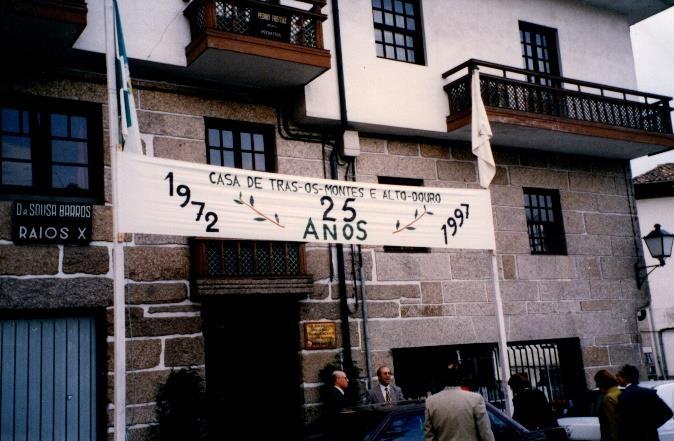
Em 1997 foi comemorado o 25º Aniversário da nossa casa. Foram 25 anos de vida social ativa, muitas festas, muitos convívios, muitos passeios, não esquecendo a atividade desportiva, cultural e recreativa.
As nossas confraternizações anuais constituem uma das nossas atividades mais emblemáticas. Todos os anos, desde a fundação da coletividade, no mês de maio, foram organizados grupos, umas vezes mais numerosos, outras vezes menos, para visitarmos uma cidade ou uma vila transmontana.
Foi um autêntico regresso às origens em que as pessoas manifestaram o seu transmontanismo das maneiras mais diversas, visitando os monumentos das várias localidades, apreciando as lindas paisagens de Trás-os-Montes e Alto Douro e fomentando um convívio são e agradável em que fomos sempre bem acompanhados pelos nossos sócios que, não sendo de origem transmontana, se juntaram aos sócios transmontanos e se integraram perfeitamente no espírito que norteou
de futebol de salão da associação


As nossas festas, das quais faziam parte os saudosos bailes (Carnaval, Primavera, Santos Populares, Vindimas, S. Martinho e Passagem de Ano) constituíram a mais alegre e saudável atividade que se desenvolveu na nossa sede. Muitas noites de alegria, de convívio e de diversão, em que houve noites que saímos da sede já manhã alta, deixaram em todos nós uma nostalgia difícil de ultrapassar.
Uma referência ao Jornal Além Marão, um pequeno jornal, mas que, pelo menos duas vezes por ano, levava notícias aos associados, nomeadamente das atividades a realizar e realizadas na Sede. Aos vários diretores que do jornal ao nosso agradecimento.
Este ano (2022), no dia 22 de julho, assinalamos a comemoração dos 50 anos da nossa existência.
Foram 50 anos em que a nossa casa teve altos e baixos, mas, apesar disso, mantivemos sempre o espírito que esteve na origem da nossa associação, isto é, fomentar o convívio dos transmontanos radicados em Guimarães, promover a nossa província, em Guimarães, através de exposições de produtos transmontanos,
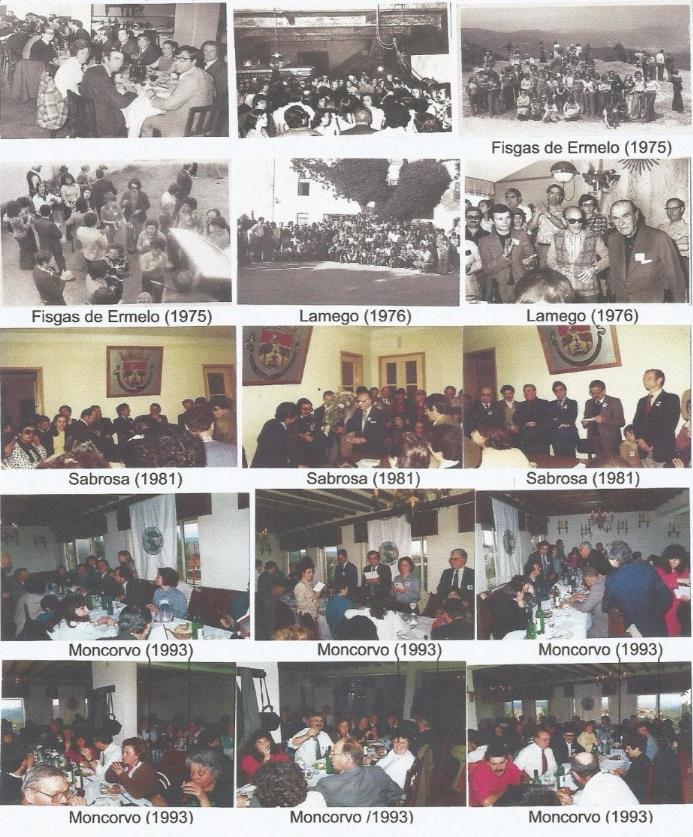
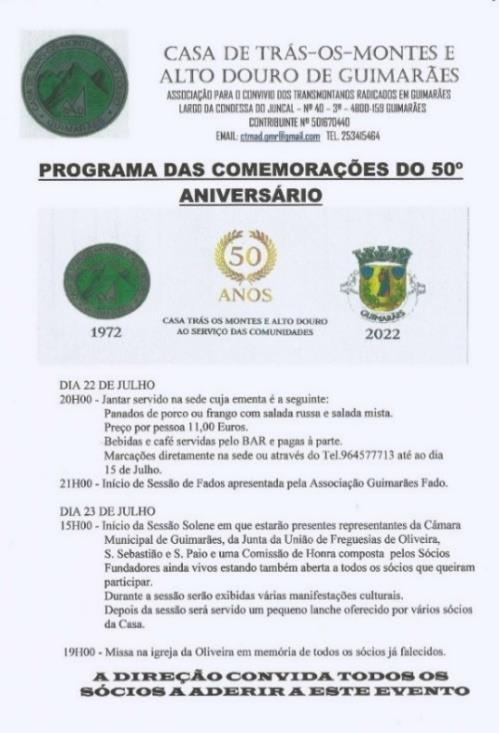
na nossa sede, divulgar a cultura transmontana, no fundo, promover Trás-os-Montes em todas as suas vertentes.

Compete aos Transmontanos radicados em Guimarães aderirem a este projeto coletivo. Este é o desafio do momento: renovar a Associação com a adesão dos mais jovens. Para memória futura registamos, acima, o programa da comemoração das bodas de ouro da Associação, em que todos nos empenhamos. Deixo, aqui, para os meus conterrâneos o meu desabafo sentido, registado num dia mais taciturno:
Nasci numa linda aldeia Abraçada pelo Marão Como uma mãe abraça a filha Juntinho ao seu coração. Cresci a acompanhar Essa beleza sem par. Pé descalço percorri os montes Apanhando lenha para aquecer Os longos meses de Inverno, Matando a sede nas suas fontes Nos restantes meses de inverno. No alto, junto à Capela, Parava para admirar Aquela terra tão bela Que um dia iria deixar. Fui à escola, aprendi a ler Mas cedo tive de enfrentar Aquilo que a minha terra Não tinha para me oferecer. Tive de abandonar o lar Quando ainda era menino Com a minha mãe a chorar Temendo pelo meu destino. Parti para terras do Douro Com um aperto no coração Onde tive de ser adulto Quando nas cabeça ainda tinha
O arco, a bola de trapos e o pião. Trabalho duro tive de enfrentar Durante a minha mocidade Até que o meu pai disse: Meu filho vou-te arranjar Um trabalho na cidade. Para trás deixei o Douro Terra de grande beleza Onde o verde dos seus vales Contrasta com a pobreza Dos que têm de amanhar A vida que é dos outros Para o seu pão conquistar. Parti então para a cidade Transportando na bagagem Grande sonho e esperança E uma grande coragem Para enfrentar a saudade Dos meus tempos de criança. Vim encontrar na cidade Novos e grandes problemas, Sozinho tive de enfrentar Toda a adversidade De quem de trabalhar Longe da sua família Sem ninguém para o ajudar. Mas com grande determinação

E aqui vim encontrar, Depois de muito lutar, A minha felicidade.
Agora ainda me lembro Da minha querida aldeia, Dos meus pais e dos meus irmãos
E dos serões à luz da candeia.
Foi aí que eu herdei Um grande calor humano E aos ombros carreguei, Pelas terras por onde andei, Um grande orgulho de SER TRANSMONTANO.
20 anos de Serviço Público de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais em Guimarães e Vizela
Armindo Costa e Silva Presidente do Conselho de Administração da Vimágua
A Vimágua, Empresa Intermunicipal de Água e Saneamento de Guimarães e Vizela E.I.M. S.A., celebra 20 anos de existência ao serviço das populações de Guimarães e Vizela.
Criada a 19 de fevereiro de 2002, a Vimágua teve como missão refundar um serviço público de águas, que é já centenário, e impulsionar o crescimento das redes de água e saneamento.

Nestes 20 anos de atividade, foram investidos cerca de 100Milhões de Euros nos serviços de águas, com especial destaque para a expansão das redes de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais urbanas.
Em 2002, 80% da população encontrava-se servida, no que respeita ao abastecimento público de água e 50%, no que concerne ao serviço público de saneamento de águas residuais urbanas.
Atualmente, as taxas de cobertura do serviço de abastecimento de água e saneamento de águas residuais são superiores à média nacional, com 98% em redes de água e 92,3% em redes de saneamento, o que corresponde a 1385,6km de condutas de água e 865,8km de coletores de saneamento.
Em 2002, o número de utilizadores fixava-se em 43Mil138 e, chegados a 2022, temos 73Mil782utilizadores.
Com o crescimento das redes houve necessidade de reforçar a capacidade de captação de água e investir em tecnologias de ponta para assegurar a sua segurança e qualidade, designadamente, na instalação de
um sistema de ultrafiltração por membranas e de equipamentos de desinfeção por luz ultravioleta (UV), sempre com a preocupação de garantir uma água natural de excelência.
Ao nível da operacionalização do serviço há, também, a destacar importantes investimentos na aquisição de tecnologia de monitorização e controlo, na substituição e remodelação de redes e na renovação do parque de contadores, tendo em vista a eficiência do sistema público de abastecimento de água, contribuindo para a redução de perdas de água e do número de interrupções no serviço.
No que concerne ao sistema público de saneamento de águas residuais, têm sido reforçados os meios afetos à manutenção preventiva, com destaque para a aquisição de um hidrolimpador, o qual procede à limpeza de cerca de 24km de coletores de saneamento por mês, em dois turnos diários.

Têm, também, sido feitos importantes investimentos na remodelação e substituição de redes e eliminação de afluências indevidas de águas pluviais ao sistema público de saneamento.
A contribuição para uma economia verde é uma preocupação da Vimágua. Empenhamo-nos em garantir que da nossa atividade resulte um impacte positivo no meio ambiente. Deste modo, temos vindo, progressivamente, a instalar painéis fotovoltaicos, nas várias instalações da Vimágua, para a produção de energia e procedido à gradual substituição da frota automóvel por veículos elétricos, tendo em vista a descarbonização da atividade da empresa.

Muitos são, porém, os desafios que se nos colocam no quadro do combate às alterações climáticas, do roteiro da neutralidade carbónica, da salvaguarda das nossas linhas de água e da gestão dos nossos ativos.
Assim, prosseguiremos com a gradual descarbonização da nossa atividade, reforçaremos o investimento

na eficiência hídrica, na eficiência energética, na redução das afluências indevidas de águas pluviais às redes de saneamento, intensificaremos a substituição das redes de água com maior incidência de fugas e reabilitaremos ou substituiremos as redes de saneamento mais antigas.

Estes objetivos exigem um elevado esforço de investimento, que procuraremos garantir, através de meios próprios e através de candidaturas a fundos nacionais e europeus.
Antes como agora, continuaremos apostados em prestar um serviço de qualidade, com recurso às melhores técnicas e procedimentos, tendo sempre presente a importância da acessibilidade económica das famílias e das empresas ao serviço público de interesse geral que asseguramos.

O Orfeão de Guimarães teve o seu início no dia 8 de janeiro de 1917 com a realização do primeiro ensaio. Em 8 de junho desse mesmo ano deu o seu primeiro concerto em Guimarães. O seu Presidente, o Reverendo Padre Gaspar Roriz, salientou no discurso de apresentação do Orfeão a importância desse dia para Guimarães pois era o aniversário da morte de Gil Vicente, o pai do teatro português.

Em 1980, graças à iniciativa da Sociedade Musical de Guimarães, a direção artística foi entregue ao maestro Fernando José Teixeira que, graças ao seu dinamismo, lhe incutiu vida nova.
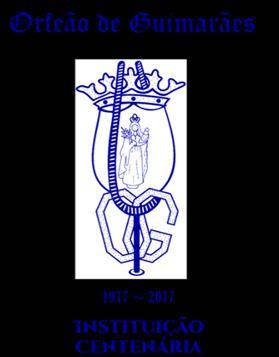
Apresentou-se, assim, à cidade e ao concelho de Guimarães disposto a divulgar a música e, através dela, elevar o nível cultural do povo.
Depressa, porém, a sua ação se estendeu a outros pontos do país, sendo de recordar duas atuações na Radiotelevisão Portuguesa e dois memoráveis concertos: um em Leiria, aquando das comemorações do 6º Centenário da Batalha de Aljubarrota, e outro em Grenoble (França) a convite da comunidade de emigrantes portugueses aí radicados.

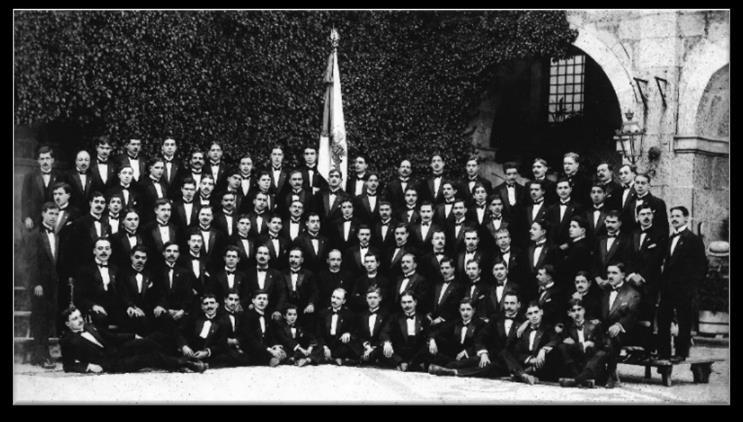
Em outubro de 2006, o diretor artístico passou a ser o professor José Carlos Azevedo, natural de Guimarães. Além de vários concertos realizados na cidade e concelho de Guimarães, o Orfeão participou, conjuntamente com mais cinco coros de Guimarães e com a Orquestra de Sopros da Academia de Música Valentim Moreira de Sá, também desta cidade, em concertos e na gravação de um CD com os hinos de Guimarães, Nacional e da Europa. Mas não se ficou por aqui. Ao longo dos anos tem vindo a divulgar o seu vasto e variado repertório em várias localidades do centro e norte do país.
Como acima ficou dito, o Orfeão de Guimarães iniciou as suas atividades em 8 de janeiro de 1917. Pois, justamente nesse dia de janeiro de 2017 deu início às comemorações do seu centenário com um vasto programa de atividades realizadas ao longo do ano, nomeadamente: três grandes concertos (um deles com a participação de dois coros convidados), duas exposições e várias conferências.

Em 08/01/2017, na igreja de S. FranciscoOrfeão de Guimarães acompanhado pela Orquestra Juvenil de Pevidém.
Em 06/07/2017, no Paço dos Duques de Bragança – Orfeão de Guimarães, Orfeão Famalicense e Orfeão do CCD da Coelima.
Em 24/11/2017, na igreja de S. Francisco (concerto em honra de Sta. Cecília, padroeira da música e dos músicos) – Orfeão de Guimarães acompanhado pela Orquestra Juvenil de Pevidém.

JUNI –

com 50 Anos Guilherme Ribeiro Sócio nº 3

O nome JUNI não é fruto do acaso. Cada letra tem o seu significado devidamente representado no seu emblema, na cruz e no I de Ideal onde os apertos de duas mãos simbolizam a fraternidade. O emblema resultou de um concurso dos alunos do Seminário do Verbo Divino, onde o Pe. Adelino lecionava. É uma Associação da Igreja a quem pertence o seu património.
Foi criada para dar “alegria, diversão, cultura, convívio e fraternidade” como referia, e bem, a publicação comemorativa das Bodas de Prata.
Não fazendo parte do restrito número de fundadores, na época ainda estava a estudar no Seminário (saí no dia 13 de junho de 1971) tive sempre papel preponderante na JUNI em todas as suas atividades e
talvez por isso o Fundador e Presidente Padre Adelino e a Direção, me tivessem atribuído o número 3 como sócio, a que correspondi sempre com trabalho, dedicação, afinco e lealdade, e se continuo com o mesmo número embora já falecessem o Fundador e o valoroso número 2, José Joaquim Fernandes, não me impede, como sempre e agora, na retaguarda, de colaborar e trabalhar.
Tenho, por isso, a obrigação de dar o meu contributo sobre a história da JUNI, no sentido de ajudar, como interlocutor privilegiado, na divulgação o mais fiel possível da sua história desde os primórdios.
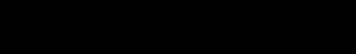

A JUNI é fruto da visão futurista de um Homem, o Padre Adelino, que sabia que era na juventude que devia apostar. Nomeado Pároco em 1960 para uma terra, meia urbana, meia rural, pobre, onde a paróquia, também ela pobre, desorganizada, sem residência paroquial, com a Igreja a necessitar de obras urgentes, uma Capela de São Roque em ruínas, um panorama que desmotivaria qualquer um, mas não, um homem de fibra, um líder. Arregaçou as mangas, meteu as mãos às obras e revolucionou a freguesia.
Às obras físicas, uma a uma, Igreja, Capela, Residência, no ritmo do contributo dos paroquianos deu solução, mas há uma que muito contribuiu para transformar a paróquia e a freguesia criando novas dinâmicas: a Fundação do CNE - Escutismo Católico Português, em 1 de setembro de 1963. Desta criação, do seu desenvolvimento, nasce a necessidade de colmatar o vazio aos jovens que pela idade já não podendo ser escuteiros sentiam necessidade de estarem organizados a praticar desporto e atividades lúdicas.
Mais uma vez o Padre Adelino resolve o problema, confia na juventude, e funda um grupo com a ajuda dos escuteiros do CNE e de jovens oriundos um pouco de toda a freguesia e daí nasce a JUNI em 1971.


Em 1972 já a JUNI tinha um Grupo Cénico, superiormente ensaiado, encenado, pelo Padre Adelino que entusiasmado pelo desempenho dos seus atores, arrisca levá-lo à sua terra natal - Barroselas - com fortes tradições na Arte de Talma com os seus quatro grupos. A atuação excedeu as melhores expectativas.
No mesmo ano, a Secção de Futebol Salão vence o Torneio do Colégio de Vila Pouca e participa noutros, como Serzedelo (futebol de 11), e acumula êxitos.
O Boletim da JUNI foi criado, de início de forma artesanal, mas foi ganhando qualidade até morrer com
o falecimento do Pe. Adelino. O boletim, em dezembro de 2001; o fundador, em agosto de 2002.
Pode ter passado desapercebido, sobretudo aos mais novos, mas os anos de 1973, 74 e 75 foram penosos para a JUNI com a chamada, para cumprir serviço militar obrigatório, de jovens como o Zé Maria Ferreira, Sidónio Ferreira, Luís Mário Novais Oliveira, Jorge do Nascimento Silva, Armando Salgado, Henrique Dantas, diversos praticantes da equipa de futebol e eu próprio o que reduziu muito a atividade cultural e desportiva só retomada em 1975, depois do chamado “verão quente”.
Por essa altura surgem, mercê dos ventos da liberdade, a contestação à Igreja e ao Fundador. Posso acrescentar que a ação do Padre Adelino não era vista com bons olhos, quer pelo poder político quer, ainda que em surdina, por um ou outro sacerdote.
Foto do Grupo de Teatro, em Barroselas, 1972

A compra do terreno, em 1976, para a paróquia, com uma finalidade ainda indefinida, do que é hoje o Parque da JUNI, gerou uma guerra sem quartel que resultou na constituição de um grupo dissidente, com o mesmo nome JUNI e, bem mais fundo, pela aversão e repulsa ao Padre por ser um HOMEM que tinha um projeto, que não se deixava intimidar com ameaças à sua integridade física, que tinha um Ideal para a Juventude: formação.
Fiz parte de um grupo magnífico onde a cultura teve um forte impulso: teatro - comédia e drama, música religiosa (coro) e ligeira, mas, em simultâneo, sobretudo a partir de 1976, com outro grupo de homens de muita valia e dedicação começamos a construir a “menina dos olhos da JUNI” o Parque Desportivo. Foram anos de muito trabalho gratuito, voluntário e de sacrifício, mas de muito prazer pela obra que de umas leiras de terreno emergiam.
De um lado as formigas, do outro as cigarras. Nós construímos património de que nos orgulhamos, ao invés da outra coletividade recém-formada, uma árvore que foi murchando, não deu fruto, secou, semeou a discórdia.

É por demais evidente que o nome e as desavenças, por si só, nada valem. Uma árvore avalia-se pelo fruto que dá ou até pela sombra que oferece.
Mas voltemos à história de que me interessa falar e que pode ser confirmada hoje com uma visita ao Parque desportivo da JUNI.
Envolvi-me na sua construção, fazendo parte de equipas constituídas por pessoas maravilhosas, de uma
generosidade extrema e de um voluntarismo inigualável: desaterros, muros de suporte de terras, bar, piscinas, balneários, rinque. Sei, como poucos, o que foi feito e como foi feito. Tivemos apoio institucional da Câmara, do Governo Central, do Governo Civil, da Segurança Social e da Junta de Freguesia, de muitos anónimos e de benfeitores como Domingos Torcato Ribeiro, António Luís, Armindo Monteiro, mas o principal apoio e entusiasmo foi das pessoas, do seu trabalho abnegado, voluntário e gratuito. Contudo há uma pessoa que tenho que destacar: António Ribeiro da Leonesa. Generosidade é dar até ao limite do possível e isso, confissão de interesses, o meu Pai e a minha Mãe, sua sócia, foram inexcedíveis.
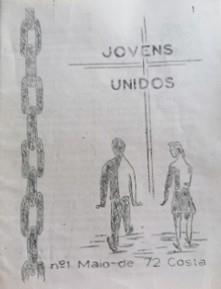
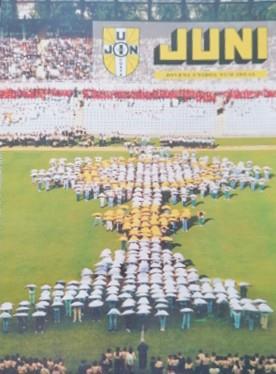
Um dia caiu uma “bomba” na Residência Paroquial: a Direção do Centro Paroquial e Fábrica da Igreja pediram a demissão face aos gastos das obras do Parque da JUNI que já eram enormes e iriam aumentar exponencialmente e com os quais tinham dificuldade em lidar. O Padre Adelino, como bom estratega, reuniu os cerca de quarenta trabalhadores a quem expôs o que tinha acontecido. Duas propostas em cima da mesa: parar as obras ou prosseguir os trabalhos a um ritmo menor conforme as receitas. Do meio da Assembleia surge uma voz: “se o Sr. Ribeiro (Leonesa) nos apoiar nós não parámos”. Resposta pronta do meu Pai: “podem contar comigo”. Foram estes cerca de quarenta trabalhadores, os verdadeiros “Heróis” como lhe chamava o Padre Adelino que, em uníssono, disseram para a frente é que é o caminho e foi. Este “contar comigo” era para o fornecimento de areia, britas, ferro e cimento, um bem escasso, e disponibilizar camiões e, quase em permanência, dumpers conduzidos por mim e pelo meu irmão Miguel, compressor e a cedência de um pedreiro para aplicação de explosivos pólvora e dinamite para desmonte de pedra que deu para todas as necessidades na construção dos muros e até cedência aos vizinhos da Pousada.

Foram tempos únicos de muito trabalho, sacrifício que transformaram umas quantas leiras e campos no parque aprazível que hoje se pode desfrutar.
E se a obra física do Parque, que está à vista de todos, é um orgulho para a população da paróquia da Costa o cumprimento dos Estatutos da Associação com ocupação de tempos livres, teatro, música e desporto puderam, em simultâneo, ser executados porque havia tempo para tudo. Todos nos lembramos dos espetáculos que, desde Barroselas, ao Colégio da Nossa Senhora da Conceição, de Ronfe a Candoso fizeram o encanto de plateias que calorosamente nos agradeceram com fortíssimas ovações. O drama “A Barca sem Pescador” de Alejandro Casona (também autor de “As árvores morrem de pé”) com efeitos sonoros produzidos pelo Encenador - Padre Adelino era o expoente. Comédias como os “Três Malotas” ou o “Soldado 29”, sketches. Os espetáculos terminavam com música pelo Conjunto JUNI. Era um cartaz sempre muito requisitado e aplaudido.

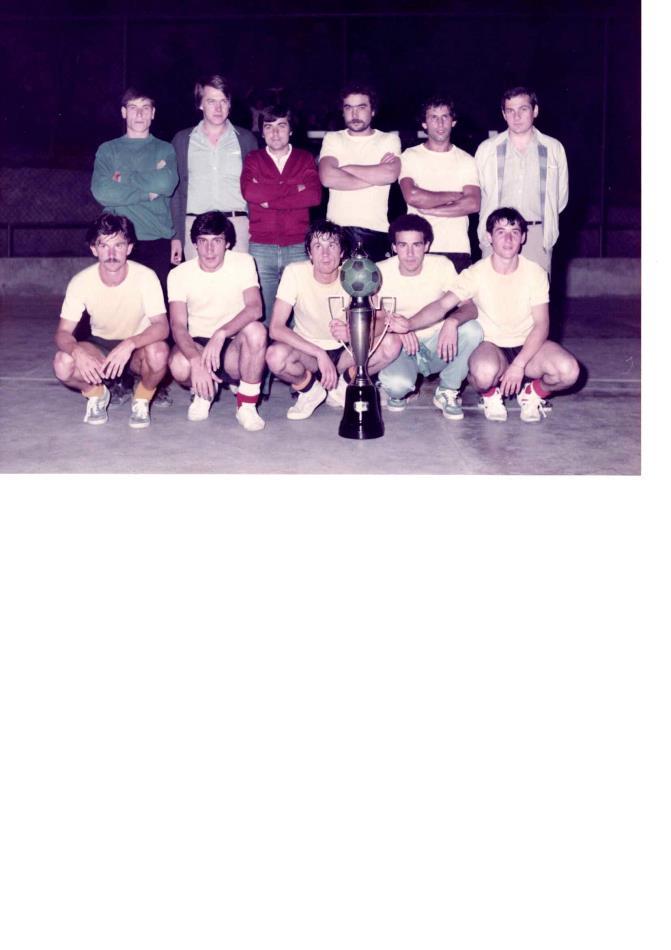
Concertos, hoje seriam chamados Festivais, como o da Manuela Bravo (Balão, sobe, sobe) o do Já Fumega e o monumental e primeiro grande concerto em Guimarães com os Táxi, a banda do momento, com a primeira parte a cargo do carismático “Bino Showriça”. Mais de três mil pessoas no Parque da JUNI com uma receita considerável que ajudou a aliviar as contas. Um enorme sucesso. Um êxito.
Havia tempo para festivais infantis, teatro infantil com presença em muitos palcos, uma panóplia de atividades para angariar dinheiro necessário para pagar as obras. Um tempo em que a sensibilidade para o dinheiro era tal que os instrumentos para o Conjunto resultaram de um acordo com o Padre Adelino: 50% da responsabilidade da Paróquia e os outros 50% dos elementos do Conjunto com a particularidade de, em primeiro lugar, ser reembolsada a Paróquia. Pagávamos, do nosso bolso, as despesas de deslocação e refeições Legenda -

só para ajudar.
Torneios de Futebol Salão que a partir de maio davam um colorido e vivacidade ao Parque da JUNI. Fui um dos iniciadores e durante treze anos estive sempre presente na sua orientação.
Iniciamos os Grandes Prémios de Atletismo da JUNI e só no primeiro ano é que precisamos do apoio dos Unidos do Cano, coletividade com experiência na sua organização, mas, como bons alunos aprendemos rápido. Éramos de uma eficiência reconhecida por todas as equipas participantes.

Daqui nasceu a Secção de Atletismo cuja “alma mater” foi o saudoso Chefe Gaspar a quem a JUNI muito ficou a dever: respeito, consideração e uma homenagem a condizer com os êxitos alcançados e com um justo reconhecimento pela sua dedicação e ação na formação de tantos e tantos jovens.
A JUNI, para ser hoje o que é, tal como um edifício que se quer alto e robusto, foi criada com uns alicerces que lhe permite o crescimento que a trouxe até às suas Bodas de Ouro. Há mais de seis anos sugeri ao Presidente que as comemorações seriam uma boa ocasião para aproximar os fundadores e outros elementos preponderantes do passado para uma reflexão e um reviver memórias. Eventualmente ainda terão ideias e capacidade para contribuírem para o desenvolvimento da Instituição. É evidente que sou um “idealista” e cheio de boas intenções. Temos felizmente muitos elementos que em muitas áreas do saber e da cultura, da vida associativa, das empresas deram provas no passado e, ainda hoje, e que muito contribuiriam para enaltecer a JUNI e ajudar a preparar o futuro. Os tempos que vivemos são complexos e, certamente, a pandemia que nos assola terá sido a razão da Direção da JUNI optar por não ponderar as minhas sugestões.

40 º grande prémio de atletismo JUNI
Nem de propósito, na Sessão Comemorativa do 24 de junho, a Câmara Municipal entendeu agraciar cidadãos pelo “contributo para aumentar o prestígio e notoriedade de Guimarães”. Como é do conhecimento geral foi atribuída a “Medalha de Mérito Cultural em ouro” ao Dr. Jorge do Nascimento Silva, sobrinho do Padre Adelino Silva, (quem sai aos seus … …), cuja primeira referência do seu currículo foi precisamente ao trabalho associativo na JUNI. É caso para dizer que a JUNI também foi, em quota-parte, agraciada. A JUNI continua viva e a perseguir objetivos louváveis. O meu apoio é total e o meu desejo é o sucesso desta coletividade. Também sou dos poucos que sabia que se o Padre Adelino continuasse entre nós era sua intenção
perpetuar os principais nomes dos Heróis do Parque da JUNI num mural. Nomes como: Artur e Gaspar Oliveira, António Maria Dias, António Freitas, António Costa, José Ribeiro, José Peixoto, Jacinto Ribeiro e tantos outros que permitiram concretizar um sonho ficariam, assim, perpetuados. Somos de um tempo em que se trabalhava para a JUNI, hoje trabalha-se na JUNI. Outros tempos, outras vontades diferentes.
Equipa redatorial Este ano celebraram-se 100 anos da revista nacional "O CHARADISTA", que desta feita teve como palco comemorativo a cidade de Guimarães, sob a organização do Novo Núcleo Enigmista Vimaranense (NNEV), liderado por Carlos Costeira. A confraternização do centenário teve lugar em 26 de junho de 2022, no Restaurante Piedade, e juntou charadistas de todos os pontos do país, que, além da receção dos troféus comemorativos e lembranças alusivas à data, tiverem ainda ensejo de visitar a Feira Afonsina. A assinalar a data o NNEV brindar-nos-ia amavelmente com as palavras cruzadas que se seguem, alusivas aos temas centrais desta edição n.º 4 dos OsmusikéCadernos:
Horizontais: 1 – Montes muito altos e extensos. 2 – Transpiração; Atmosfera. 3 – Terminal de caixa automática (multibanco) [sigla]; Maldade; Decifrei. 4 – Biblioteca Municipal que celebra 30 anos [duas palavras juntas]. 5 – Veludinho; Soe. 6 – Anuência; Clube desportivo que celebra 100 anos [sigla]. 7 – Medida de capacidade para líquidos, nos Países-Baixos; Embarcações de recreio. 8 – Uni e enseada [tudo junto]. 9 – Basta! Ciências da Terra e da Vida [sigla]; Rate. 10 – Entre; (Mehemed el-) rei mouro da África e da Espanha, m. em 1213. 11 – Cidade portuguesa, Património Mundial da Unesco (2001), Capital Europeia da Cultura (2012) e Cidade Europeia do Desporto (2013).
Verticais: 1 – Pequeno veículo automóvel de competição; Época. 2 – Análogos; Oferece. 3 – Associação cultural vimaranense que celebra 20 anos; A minha pessoa. 4 – Despido; Desbastar; Terceira nota musical. 5 – Queda; Normas Internacionais de Contabilidade [sigla]. 6 – Lavrar; Vulcão ao NE da Sicília. 7 – Abrev. de latitude; Liga de níquel e aço. 8 – Existe; Notícias; Pura. 9 – Éter; expulse da pátria. 10 – Pelo de carneiro e de outros animais; como a ceia. 11 – Mais mal; emitir som.

Sã; 9 – Ar; Desterre; 10 – Lã; Ceio; 11 – Pior; Soar.
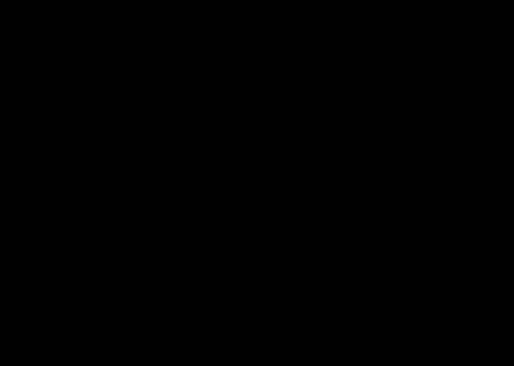
Verticais: 1 – Kart; Data; 2 – Tais; Dá; 3 –Osmusiké; Eu; 4 – Nu; Limar; Mi; 5 – Tombo; Nic; 6 – Arar; Etna; 7 – Lat; Invar; 8 – Ha; Novas;

Toe; 6 – Sim; VSC; 7 – Kan; Iates; 8 – Aderienseio; 9 – Tá; CTV; Roa; 10 – Em; Nasr; 11 – Guimarães.
Horizontais: 1 – Montanhas; 2 – Suor; Ar; 3 – ATM; Mal; Li; 4 – RaulBrandão; 5 – Tisio;


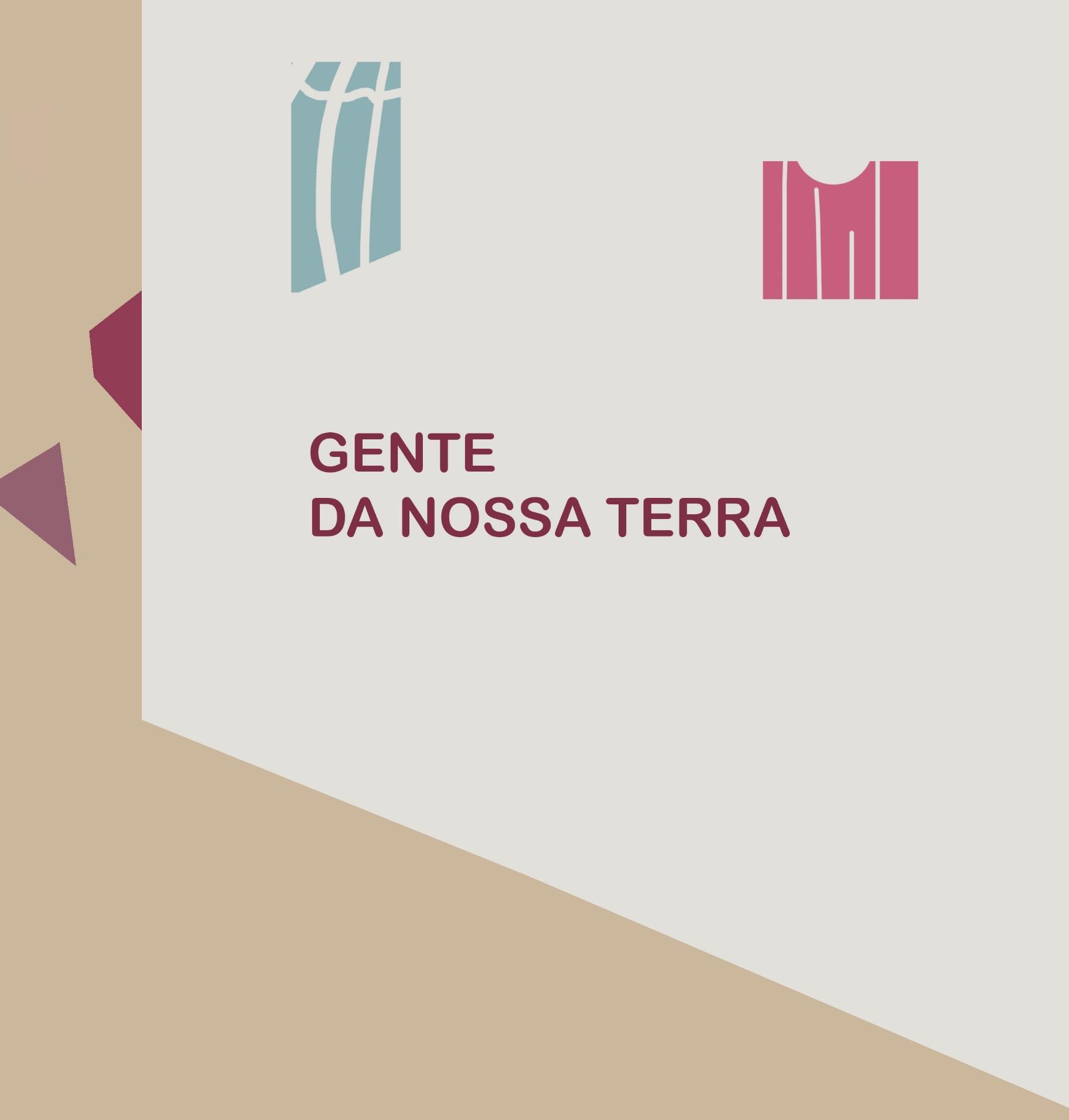
Esta é uma rubrica em que paulatinamente pretendemos dar a conhecer figuras e personalidades vimaranenses, por nascimento ou adoção, que, em Guimarães, deixaram marcas, como, o “guerreiro” Emídio Guerreiro e Delfim de Guimarães, cujo soneto “A nossa gente é assim” mostra a fibra dos vimaranenses, aquando da reconstrução da Praça de Toiros, em 1947, já lá vão 75 anos.
Ademais, passam também 400 anos do nascimento do Padre Torcato Peixoto de Azevedo, autor da monografia “Memórias Ressuscitadas de Guimarães”, uma outra efeméride a assinalar.

“Santos da Casa”, que consta terão feito milagres e/ou atos piedosos, alguns ligados a romarias populares, fazem ainda parte da “procissão” das gentes ilustres da nossa terra, que fecha com uma alusão à extinta romaria de São Tiago que, em tempos passados, juntava gentes das freguesias da Costa, Urgezes e Atães.
Em próximas edições, se Deus quiser, falaremos de outros santos e gente da nossa terra …
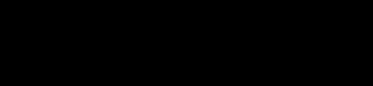

João Gomes de Oliveira Guimarães, mais tarde conhecido por Abade de Tagilde, nasceu em 29 de dezembro de 1853, filho de Maria de Abreu Pereira e Jacinto Gomes de Oliveira, numa velha casa de proprietários abastados, em Bugalhós de Baixo, na freguesia de S. Vicente de Mascotelos, situação que nos tempos de estudante lhe valeria o nome de Santo Amaro, denominação da romaria local.
Ora, o Abade de Tagilde, assim conhecido pelo facto de haver paroquiado a freguesia de Tagilde até à data da sua morte, em 20 de Abril de 1912, foi um notável historiador, arqueólogo, numismata e epigrafista, além de se haver distinguido como diplomatista, genealogista, orador, político e ainda escritor e jornalista. De facto, um homem dos sete instrumentos e um aluno brilhante, que após a conclusão do curso de Teologia no Seminário de Braga, em 1875, abraçaria a orientação espiritual da paróquia de Tagilde, alguns anos depois da sua ordenação.
Porém, ao longo dos seus 59 anos de vida, o sacerdote nunca deixaria de estudar e aprofundar conhecimentos e saberes, sobretudo no campo da História Local, especialmente no âmbito da paleografia e a diplomática, que lhe teriam fornecido úteis ferramentas de trabalho no âmbito da investigação histórica.
Contam-se assim entre a sua marcante obra a impressionante compilação de documentos sobre o período medieval vimaranense, o “Vimaranis Monumenta Historica”, bem como o renascimento dos estudos de História Local de Guimarães, que no século XVII haviam sido iniciados pelo Padre Torquato Peixoto de Azevedo (1622-1705) na suas “Memórias Ressuscitada de Guimarães” e posteriormente prosseguidos pelo Padre António Ferreira Caldas (1843-1884) na sua obra “Guimarães – Apontamentos para a sua história”. De facto, procurando um maior rigor histórico que os seus antecessores setecentistas, mais vocacionados para a tradição fantasiosa de reminiscências antigas e lendárias, o Abade de Tagilde enfrenta a necessidade de regressar à matéria -prima primordial da investigação histórica: os documentos. Assume assim, a perspetiva do escavador meticuloso e paciente e buscador de fontes, que busca resgatar a história local da poeira dos tempos, num trabalho de sapa e porfia que passa por mergulhar nos arquivos e cartórios, a manusear a mais variada documentação.

Deste modo, o Abade de Tagilde torna-se um precursor da História Local, legando-nos três monografias (Guimarães e Santo António, Guimarães e Santa Maria e Monografia de Tagilde) e ainda cerca de 1500 páginas de artigos publicados na Revista de Guimarães, durante cerca de três décadas, a grande maioria integrando a série “Apontamentos para a História de Guimarães”, que abordam variados temas. Citem-se, entre outros, a Tinturaria Vimaranense, a Alçada de 1828 em Guimarães, os Priores da Colegiada, o Convento de Santa Clara, a Vila do Castelo, o Abastecimento de Águas Potáveis, o Teatro Vimaranense ou as Epidemias de Guimarães.
Ademais, o Abade de Tagilde tencionava escrever uma grande monografia sobre cada uma das freguesias concelhias, tal como fizera sobre Tagilde, tendo coligido um enorme conjunto de documentação referente às origens e história das freguesias de Guimarães, que sob a designação “Apontamentos para a História do Concelho de Guimarães “ se encontram encadernados em quatro volumes manuscritos, à guarda da Biblioteca da Sociedade Martins Sarmento.

Todavia, o trabalho fundamental do Abade de Tagilde é Vimaranis Monumenta Historica.
Com efeito, em resultado de uma proposta apresentada na Câmara Municipal de Guimarães pelo vicepresidente Antero Campos da Silva, que fora aprovada em 6 de Abril de 1898, seria atribuída à Sociedade Martins Sarmento a execução do projeto de publicar todos os documentos, inclusive os existentes na Torre do Tombo, com o objetivo de se organizarem os denominados “Anais do Município de Guimarães”.
Como é óbvio, caberia ao Abade de Tagilde esta titânica tarefa, que renuiria documentos das mais diversas proveniências, quer públicas quer particulares, desde as origens mais remotas até ao século XX.
No entanto, para além desta vertente, o Abade de Tagilde enveredaria também pela via política. Todavia, praticamente desconhecido, quando no Outono de 1889 se apresentou como candidato a deputado pelo círculo de Guimarães em representação do Partido Progressista, então no poder, o Abade seria na política um vencido.
Com efeito, em Guimarães, o seu adversário João Franco Castelo Branco (1855-1929), já eleito em eleições anteriores pelo Partido Regenerador, gozava de grandes apoios e popularidade na cidade-berço, pelo que o Abade de Tagilde não teria hipóteses perante o seu opositor, apesar de uma campanha agitada e cheia de acusações e remoques, em especial por parte do Comércio de Guimarães, que apoiava os regeneradores: O Abade de Bugalhós Quer jogar bugalhinhas Quer deixar residência? Ora toma Mariquinhas!
O Abade de Bugalhós
Joga agora bugalhinhas … Queria ser deputado? Ora toma Mariquinhas!
Porém, a despeito dos seus amigos mais próximos o tentarem demover da vida política, entre os quais Francisco Martins Sarmento, que em 1897 faz votos sinceros “para que a pena de Talião se realize, (…) tirando-lhe de vez o vício da política, que lhe há de dar desgostos pela rasa velha”, uma vez que o desejava na arqueologia, o abade não abandonaria completamente a atividade política, optando por exercê-la a nível municipal. Assim, desempenharia funções de vereador municipal entre 1902 e 1904 e no ano seguinte, em 1905, assumiria a presidência da Câmara Municipal onde se manteria até à implantação da República, a 5 de Outubro de 1910.

Uma atividade municipal que se saldaria fundamentalmente pela renovação urbanística na praça se S. Tiago, melhoramentos no Toural e alargamento do Campo da Feira, bem com prolongamento da Rua Paio Galvão e a prossecução da exploração da água da Penha para abastecimento público.
No entanto, uma ação que não agradaria aos próprios amigos, como João de Meira, que assim o retrata no “Álbum das Glórias”:
“Preside hoje aos destinos do concelho E prometeu a bem do nosso povo Escavacar tudo que é sujo e velho E uma nova cidade erguer de novo!
Mas eu já não vou como tal paleio Nem esses lindos rasgos triunfantes Hão de correr os anos sem receio E tudo ficará como era dantes.
Bem mais feliz é ele quando entrega Os ócios que lhe deixa a freguesia Abrindo olhos à gentinha cega Nos seus volumes sobre arqueologia.”
Com efeito, todos os amigos instigam o abade a dedicar-se à arqueologia e a deixar a política. Contudo, acabaria por rejeitar uma proposta para o bispado procedente dos regeneradores, argumentando que se habituara de tal forma à Sociedade Martins Sarmento e à freguesia das quais se não podia separar.
De facto, antes de mais, o Abade de Tagilde foi um homem da Sociedade Martins Sarmento à qual pertenceu desde os tempos da sua fundação, ascendendo a sócio honorário no início da década de 1890. Ademais, estaria 10 anos na Direção e foi presidente da instituição entre 1902 e 1905.
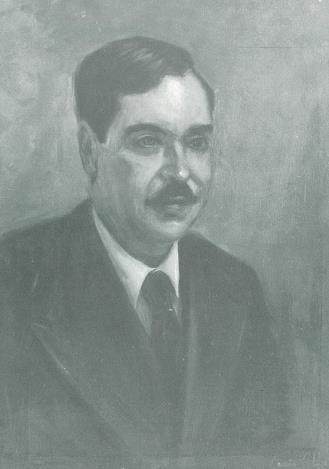
Todavia, à medida que o tempo debilitava Francisco Martins Sarmento pela doença, o Abade de Tagilde passaria a substitui-lo na função de inspeção dos achados arqueológicos, tornando-se o seu braço direito e tomando a seu cargo os trabalhos de organização do Museu Arqueológico. O abade organizaria ainda os manuscritos sarmentinos, após a morte de Sarmento e iniciaria a sua publicação na Revista de Guimarães.
Atualmente o Abade de Tagilde encontra-se imortalizado na toponímia da cidade, não obstante continuar em falta o monumento em sua homenagem, previsto desde 1953, aquando das comemorações do centenário do seu nascimento.
Nesta passagem dos 110 anos da sua morte e 170 do seu nascimento, recordar o Abade de Tagilde é portanto um ato de justiça e reconhecimento.

O Ilustre antropólogo Alberto Vieira Braga (AVB) nasceu em Guimarães, na Rua Paio Galvão, freguesia de S. Paio, em 20 de março de 1892, passam atualmente 130 anos. Filho de uma importante família de comerciantes, AVB distinguiuse sobretudo nos domínios da etnografia e da História Local, fundamentalmente ligada à investigação das tradições populares vimaranenses em campos tão vastos como as festas e romarias, crenças e superstições, hagiografia e medicina popular, bem como vida agrária e comunitarismo, corporações, confrarias e instituições.
De facto, apesar de autodidata por formação e profissionalmente ligado à atividade comercial, na esteira de seu pai, que recebeu por trespasse a loja do antigo Mercador do Poço, AVB ficaria conhecido por esse epíteto e assim era popularmente nomeado. Porém, para além de homem de negócios, presente em várias sociedades empresariais, sairia desse “Mercador do Poço” uma personalidade civicamente interventiva e ímpar no tecido social
vimaranense.

Com efeito, AVB foi um homem ativo ligado ao associativismo e ao jornalismo.
Deste modo, no âmbito do associativismo seria um dos mais ilustres membros da Sociedade Martins Sarmento e seu diretor nos anos de 1923, 1926 e 1928. No entanto, já anos antes, AVB estivera ligado ao Sport Grupo 6, que conjuntamente com outros companheiros se dedicavam ao teatro, tendo realizado vários espetáculos nas Escolas de S. Francisco, bem como marcaria presença no Grupo Foot-Ball Vimaranense, promotor de diversas modalidades desportivas.
Por sua vez, no que concerne ao jornalismo, foi colaborador do semanário “Republicano”, cujo responsável era Eduardo de Almeida; e ainda do periódico lisboeta Diário de Notícias, a partir de 1924, onde divulga vários acontecimentos vimaranenses.
Porém, é sobretudo na Revista Gil Vicente e especialmente na Revista de Guimarães, da qual seria diretor, que os seus textos se evidenciam e revelam os seus pergaminhos de etnógrafo e historiador vimaranense que, ao longo de meio século, produziu e nos legou uma vasta e singular obra, no âmbito da investigação das tradições populares, cujos trabalhos suscitam crescente interesse além-fronteiras. Deste modo, acabaria por ser nomeado de Sócio Correspondente da Academia de Letras da Baía, em 1943, alargando o seu prestígio ao Brasil.
Quanto à sua obra, inicia-se em 1921 com “Vozes de Sabedoria”, que subintitula “Sentenças do Povo”. Avança quase de seguida com a obra “Escassa Respiga Lexicológica” (Provincianismos Minhotos), uma espécie de dicionário popular minhoto do qual respigamos tão-somente e apenas algumas palavras da letra A, para adoçar o apetite de muitas outras: alfotrecas (trastes velhos), alquitétes (intrigante), amorrinhado (aborrecido), apancado (adoentado), assistida (mulher que anda menstruada), augarela (caldo mal feito), etc. Uma consulta da Revista de Guimarães nº. 32, datada de 1992, pode ser um ótimo ensejo para prosseguir por estas e outras vias lexicológicas, que certamente, em alguns casos, vão surpreender …
Entretanto, em 1927, segue-se “Mulheres, jogo, festas e luxo”, com o que inicia a sua notável obra “Curiosidades de Guimarães”. Destacamos esta passagem, retirada do “Culto poético popular e romeirinho a Nossa Senhora”: “Quem for a S. Tiago E não visitar a Senhora da Oliveira Não faz romaria verdadeira.”
Com efeito, são dezenas os poemas, maioritariamente quadras, que são dedicadas à cidade e especialmente à Senhora da Oliveira, como estas que se transcrevem:
“Cidade de Guimarães
“A Senhora da Oliveira Quatro vilas em redor de pequenina tem graça Vila Boa, Vila Verde tem bons mantos de virtude Vila Pouca, Vila Flor. e a oliveira na praça.
Se fores a Guimarães, Relógio da Oliveira Diz a canção popular Já te ouço dar horas; Tem cautela com as canelas, Quem me dera adivinhar Não as deixes lá ficar. Meu amor, a quem namoras.
Cidade de Guimarães Senhora da Oliveira Hei de mandar dourar Livrai o meu namorado, De pedrinhas miudinhas Que me vai deixar sozinha P’ra meu amor passar. Vai p’ra vida de soldado.
Adeus, adeus Guimarães A Senhora da Oliveira, Terra de tanta nobreza Tem uma lança na mão; Orgulhai-vos Guimarães P’ra matar a Braga velha De teres tanta riqueza.” Que foi falsa à Nação.” (…) (…)

Alberto Vieira Braga publicaria ainda a “Administração Seiscentista do Município Vimaranense”, outro relevante trabalho de pesquisa histórica da sua lavra.
Seguramente um autor vimaranense a descobrir e a surpreender…
Delfim Gomes da Silva Guimarães nasceu em 29 de julho de 1885, em Santa Eulália de Fermentões, no lugar de Caneiros, e faleceu em 28 de julho de 1962, há 60 anos atrás, vitimado por colapso cardíaco.

Filho de Domingos Gomes da Siva Guimarães e de Maria Rosa de Lima, frequentou o antigo Seminário-Liceu, bem cedo manifestando tendências para as letras. Deste modo, na sua juventude, colaboraria em alguns jornais da época e faria a sua estreia literária com apenas 17 anos, publicando o primeiro livro em versos: “Goivos Murchos” (1902).
De facto, embora se tenha transferido para Vila Nova de Gaia, aos 22 anos, onde exerceu a sua atividade industrial e prestou relevantes serviços à Sociedade da Cruz Vermelha, Delfim de Guimarães manteve sempre um vínculo indelével e profundo à terra vimaranense, colaborando em vários periódicos como no Melro na Ala Moderna, no Povo de Guimarães e ainda, Razão, Velha Guarda, Comércio de Guimarães e no Notícias de Guimarães.
Assim, muitas das suas poesias encontram-se dispersas por várias publicações, ainda que várias delas estejam reunidas e compiladas em livros, alguns dos quais existentes na Sociedade Martins Sarmento. Destaca-se, entre outros, o poema “A nossa gente é assim”, publicado no Notícias de Guimarães, em 1947, há 75 anos, a propósito e por altura do incêndio e reconstrução da Praça de Toiros em Guimarães (ver OsmusikéCadernos 3, páginas 573/575):
“É gente que se move e não quer peias …

Da fidalguia aos rudes cutileiros Há sangue a referver nas suas veias De impávidos e célebres guerreiros …
Não adormece ao canto das sereias … Gente que não atende a mesureiros Que abominou, de sempre, as verborreias Que arengadores de feira aventureiros
A nossa gente é assim … É orgulhosa. Se lhe ferem a alma, é assombrosa Na sua desafronta (sem defesa …)

É a raça que perdura inalterável Do Rei Conquistador e formidável Que nos doou a Pátria Portuguesa”.
De facto, Delfim de Guimarães, deixou-nos publicadas várias obras de poesia como “Os Sem-Amparo” (1907), “O Livro de meu coração” (1940)“, plaquetes em verso como ”Bráulio Caldas” (1934) e “Pró-Monumento” (1936), a que acrescenta produções teatrais diversas entre as quais “Manhã de S. João (1939), “Páscoa Coroada em rosas” (1939) e sobretudo “O Sol da nossa terra” (1932), um ato em verso, cuja ação se passa na Penha, que o poeta tanto admirava.
“O Sol da nossa terra” é, de facto, uma peça que foi representada mais do que uma vez pelos Caixeiros de Guimarães, que é bem ilustrativa do seu bairrismo e paixão pela terra vimaranense, que o viu nascer.
Uma peça dedicada “ao grande amigo da Penha e requintado artista José de Pina”, que esta Intervenção da personagem José, bem dilucida: (…)
“A nossa Terra é linda! É tudo de oiro e sol,
Em cada ninho canta um loiro rouxinol!
Terra de procissões, d’anjinhos e novenas, De romarias onde as mais garridas cenas Vivem do brouháhá dum poema alegre e claro: - S. Tiago da Costa e a festa a Santo Amaro! Madre-de- Deus, S. Torquato – a extrema animação!E a Senhora da Luz, d’Ajuda e Conceição! …
A nossa Terra é linda! É toda de oiro e sol
Em cada ninho canta um loiro rouxinol!
As festadas d’aldeia alacres e ruidosas, As danças em redor, pinceladas, graciosas, E em falsete uma voz, delgada como um fio, A chamar moçoila ao quente desafio …”
Com efeito, como cita o “Catálogo da Exposição Bibliográfica dos Autores Vimaranenses”, organizado pela Sociedade Martins Sarmento, em 1953, sob a alçada de Alberto Braga e Mário Cardoso, um “poeta de
inspirado romantismo, autor de vários trabalhos dramáticos e de diversos “Bandos Escolásticos” recitativos de veia jocosa que os estudantes do Liceu de Guimarães proferem público, na ocasião da festa anual do seu patrono S. Nicolau. É um dedicado bairrista pelo prestígio e progresso de Guimarães (…)”.
Antonino Dias Pinto de Castro retrata-o sumariamente, no Notícias de Guimarães de 5 de agosto de 1962:
Homem simples, encarnando a alma do povo, fiel sempre aos seus princípios de democrata, foi também um Poeta distinto que e todas as suas produções e tantas são as que deixa em livros e espalhadas por revistas e jornais, mormente no Notícias de Guimarães, em que colaborou durante os seus trinta anos de existência, soube refletir a sua alma grande e generosa, exaltando as virtudes e cantando a Natureza (…) Espírito franco e alegre, era uma alma aberta, extremamente bondoso e possuindo um coração que compreendia a dor alheia e com ela se solidarizava.
Ademais, Delfim de Guimarães, enquanto estudante do Liceu de Guimarães, foi também velho Nicolino que muito contribuiu para a manutenção das tradições académicas vimaranenses. Deste modo, escreveu diversos Pregões Nicolinos (o primeiro em 1907 e o último em 1960), bem como, diversas vezes, a letra para as “Danças”.

Amor à terra que é, por exemplo, evidente na alegoria à Penha, presente nos pregões de 1935 e 1936, recitados pelo Nicolino-Mor Hélder Rocha, dos quais respigamos breves passagens:
“Quisera eu erguer-te um hino, ó Penha majestosa, De joelhos em terra e mãos postas em cruz, Como aquela Oração fremente, harmoniosa, Que à lama nos cantou a boca de Jesus!
Um hino que ecoasse em tuas vastas fraldas, Teus picos de granito, em tua imensidade, Ó monte da paixão do grande Bráulio Caldas, Ó monte onde murmura a Fonte da Saudade!
Quisera eu erguer-te um hino, ó Penha minha amiga, Penha farta de cor, de sol e de arvoredos!
Mas que pode dizer-te um verme, uma formiga Que rasteja em teu dorso erecto de penedos!?”
A sua paixão à terra onde nasceu (Guimarães) foi efetivamente uma das suas marcas fundamentais. O
soneto que transcrevemos, intitulado “Guimarães”, publicado no Notícias de Guimarães de agosto de 1947, é bem o bom exemplo disso:
“Trago-a no coração: é a minha Terra Amada. Quanto mais envelheço, é quanto mais te quero!
A meus braços, de longe, eu sinto-a abraçada E das santas é hoje a santa que eu venero!
Eu sei que é uma velhinha, eu sei, encarquilhada, Mas que veste a primor de seda, com esmero!
É a Mãe de Portugal, a austera, a brasonada, E a Mãe do nosso Rei primeiro, o mais austero.
Ninguém como ela sabe as regras da nobreza. Do seu Castelo esmaga altiva e com firmeza Qualquer chatim que tente, impune, amesquinhá-la!

O seu olhar é d’águia! Ao alto vê lonjuras!
As suas mãos são de neve, imaculadas, puras, Se a sua boca fala é apenas duma fala!”
Igualmente, como é lógico, além da sua cidade, Delfim de Guimarães glosa também as suas destacadas figuras. É o caso do Padre Gaspar Roriz, falecido em 1932, a quem dedica estas saudações poéticas, publicadas nos programas das Gualterianas desse ano:
“Levai-lhe as vossas rosas, muitas rosas Que ele espera por vós – talvez feliz … Rezai as vossas preces fervorosas Por quem na vida foi Gaspar Roriz
As figuras da Marcha graciosas, Foi ele que lhe deu força e raiz! Ele sonhou mil coisas assombrosas E marcou-lhes com alma a diretriz!
Levai-lhe muitas flores ao mausoléu Que a sua alma contente, lá no Céu A todos com ternura bendirá
Ide! Não olvideis nunca esse santo.
Levai-lhe muitas flores o vosso pranto Que a minha alma também convosco irá”.
De facto, Guimarães e as suas gentes sempre estiveram no seu coração de vimaranense e poeta. “Todos por Guimarães”, poema publicado no programa das Festas Gualterianas de 1951, do qual respigamos uma passagem, é um bom exemplo desse apego bairrista à sua cidade-berço: “Todos por Guimarães, por Guimarães avante! E este o nosso brado altivo de labuta. Todos sejamos um ciclópico gigante Que nunca se abateu em temerosa luta.
Todos por Guimarães! Aqui ninguém recua!
Troveja D. Afonso erguendo ao alto a espada … Todos, todos iguais, a gente nobre, a rua, O que tem tudo, tudo, e o Zé-Ninguém sem nada …
Todos por Guimarães, impõe o Mestre Gil, Que não esquece o Berço embora este o ‘squeça … - Renegarei um Auto o conterrâneo vil Que a nossa Terra-Mãe d’amor não estremeça …

Todos por Guimarães, é a voz do Trovador, Do menestrel de antanho, o vale sonoroso, Ouve-se o mesmo grito, ardente de fervor, De Gonçalves patrício, o célebre Engenhoso.
Todos por Guimarães, S. Dâmaso incita
Do seu trono papal com gesto soberano Martins Sarmento, o Sábio, a sua dextra agita De apoio e saudação ao Papa Lusitano.
Todos por Guimarães, Francisco Agra e Meira, Alberto Sampaio, Abade de Tagilde. Pregam a união de toda a grei ordeira, Dos homens de nobreza ao povo rude, humilde.
Todos por Guimarães, em coro João de Melo, Padre Gaspar Roriz e tantas almas puras, Querem o laço augusto. O nó sagrado e belo, Que eleve o Berço amado às máximas alturas.
Todos por Guimarães! é o grito de ontem, de hoje, Que ele ecoe estrondoso e vá de vale em serra. Aqui ninguém deserta e nem recua ou foge. Todos por Guimarães que é a nossa excelsa Terra. (…)”
Assim, a propósito dos 60 anos do falecimento de Delfim de Guimarães e dos 75 anos do incêndio e reconstrução da Praça de Toiros de Guimarães, que o poeta canta de forma bairrista e emotiva no poema “A nossa gente é assim”, duas efemérides se conjugam para que todos por Guimarães, cantemos a nossa excelsa terra …
Entre os ilustres escritores vimaranenses de antanho, o Padre Torcato Peixoto de Azevedo (TPA) merece um destaque especial, ele que terá sido o primeiro ou um dos primeiros monógrafos vimaranenses, que no decorrer do ano de 2022 se comemoram 400 anos do seu nascimento.
De facto, nascido a 2 de maio, Torcato Peixoto de Azevedo (1622-1705), autor das “Memórias Ressuscitadas da Antiga Guimarães”, obra que curiosamente apenas seria publicada cerca de 140 anos após a sua morte, é efetivamente considerado um dos primeiros monógrafos da cidade. Com efeito, ainda que antes

dele se creia que os seus conterrâneos André Afonso Peixoto e Luís da Gama se hajam também dedicado a escrever sobre a história citadina, estas obras ter-se-ão perdido na poeira dos tempos, ou, como diz o Abade de Tagilde, “foram parar à loja dalgum negociante que nelas empacotassem açúcar ou arroz”.
Inequívoca e palpável é, no entanto, a obra do Padre Torcato, cujo original se encontra em bom estado de conservação na Sociedade Martins Sarmento e que seria reeditado há pouco mais de 20 anos atrás, pois, como escrevem os editores “continua ainda a ser uma referência básica para os historiadores locais e, apesar de pequenos acertos, constitui ainda uma importante e curiosa fonte histórica sobre o passado da região”.
Acrescente-se que o Padre Torcato Peixoto de Azevedo, presbítero do hábito de S. Pedro, era membro de uma família numerosa de nove filhos da prole do sargento-mor João Rebelo Leite e de Isabel Peixoto de Azevedo.
Consta ainda que desde cedo se dedicou às letras e ao estudo da História Sagrada e profana, legando-nos numerosos volumes manuscritos no âmbito da genealogia e do biografismo, designadamente acerca dos reis de Portugal e Castela, dos duques de Lorena e de Bragança e sobre várias famílias portuguesas deste reino.
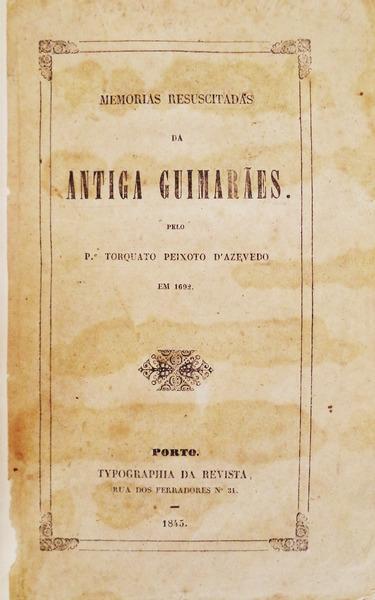
Todavia, são as “Memórias Ressuscitadas da Antiga Guimarães” a sua obra fundamental sobre a cidade-berço. Efetivamente, ao longo dos seus cerca de 142 capítulos, dos quais os 44 iniciais abordam sinteticamente a divisão da terra pelos filhos de Noé, descrição da Europa e formação de Portugal, sua povoação e sucessos na região de Entre-o-Douro e Minho, desde os tempos dos gregos, celtas e romanos, até aos godos e árabes, o Padre Torcato alude nos restantes 98 capítulos “notícias da nossa antiga Araduca, a fundação da nova Guimarães e da sua igreja real”, bem como acerca da “sua grandeza, moradores, freguesia, concelhos, coutos e honras de seu termo”. Mas, também “edifícios, mosteiros, capelas, rios, pontes e fontes vizinhas, morgados e privilégios, isenções e liberdades com que foram honrados de seus reis” e ainda, como promete o autor na prefação “casos de sucessos que na sua defesa e do reino lhe sucederam”.

Efetivamente, mesclando factos históricos diversos com episódios fabulosos, míticos e lendários, TPA “ressuscita” uma grande variedade de factos, ainda que por vezes eivados de algumas inexatidões e contradições. A história do nascimento d’el-rei D. Afonso Henriques, assim se intitula o capítulo 57, é um exemplo claro dessa simbiose:
“Nasceu el-rei D. Afonso Henriques na vila velha de Araduca em 1094, e na paróquia de S. Miguel foi batizado pelo arcebispo de Braga D. Giraldo, na pia que depois se transladou para a real colegiada, aonde se venera. Trouxe este príncipe em seu nascimento as pernas pegadas por detrás uma na outra, aleijão que deu tanto sentimento a seus pais, que não o queriam dar a criar a D. Egas Moniz, a quem o tinham prometido antes do parto, pela deformidade com que Deus lho quis mostrar, mas movidos de seus rogos e instâncias lho entregaram, a quem o bom vassalo criou com tanto resguardo, como se fora em saúde perfeita. Mas a Virgem Nossa Senhora apiedando-se de quem sabia que na vida lhe havia fazer grandes serviços e depois da sua morte lhos haviam continuar seus sucessores (…). Ouvindo as orações dos lastimosos pais do menino, apareceu a D. Egas Moniz em sonhos, e lhe disse, fosse a um lugar junto da cidade de Lamego chamado Cárqueres, e que mandando cavar achariam ali uma igreja, que se havia em outro tempo começado em seu nome, e a sua imagem, que concertando tudo, e fazendo aí vigília, pusesse o menino sobre o altar, e que logo sararia. (…)”
Por este milagre, e pela grande devoção que o conde D. Henrique teve sempre à Virgem Senhora Nossa, mandou no lugar de Cárqueres edificar um mosteiro dedicado a seu santo nome.
Assim, neste país que desde o seu início se crê nascido sob a aura milagreira, curiosa é também a sua interpretação sobre a Citânia de Briteiros, nos capítulos 43 e 44 e a sua destruição pelos mouros, que as investigações de Martins Sarmento, no século XIX, vêm a infirmar, desmontando a lenda urdida à sua volta. De facto, embora Almançor, governador de al-Andalus (938-1002), no auge do império omíada, tenha de facto travado combates importantes contra os reinos cristãos ibéricos e haja levado a cabo várias razias destruidoras, incluindo Braga (985) e Coimbra (987), parece que terá poupado Briteiros.
Realmente, não obstante, nem sempre ter ocorrido uma rigorosa análise factual, objetiva e histórica, é notório que as “Memórias Ressuscitadas da Antiga Guimarães”, como afirma o Abade de Tagilde, hão de ser sempre consultadas por quem deseje conhecer as transformações por que a velha pátria do rei conquistador há passado. No entanto, carece de uma leitura contextualizada, pois “a sua obra não podia deixar de ressentir-se da influência do seu tempo e neste quase todas as produções literárias que, como diz o Dicionário Popular, são difusas, prolixas, obscuras”.
Deste modo, a par de boas informações que nos dá e lega, como por exemplo a descrição da vila de

Guimarães, no século XVII, outras há em que interpreta de um modo bastante curioso e mesmo lendário a realidade factual. Por isso, vários outros milagres são também aludidos na obra, designadamente de Santa Maria da Oliveira e de S. Torcato. E a ele se deve também a alusão ao costume “dos morgados e vínculos dos moradores de Guimarães.” (capítulo 93º).
Entre nós, além da sua obra, o Padre Torcato terá também deixado uma primeira edição de “Os Lusíadas”, atualmente à guarda da Sociedade Martins Sarmento.
Igualmente, encontra-se evocado na toponímia da sua cidade, numa rua sita nas imediações do Tribunal Judicial de Guimarães, que garante a ligação ao edifício da Escola Secundária Martins Sarmento.
foi um dos intelectuais vimaranenses mais interessantes


A sua sensibilidade para a Arte era verdadeiramente notável, e é isso que sentimos em cada visita que realizamos ao acervo do Museu de Alberto Sampaio. Localizado no coração da cidade, no antiquíssimo núcleo edificado da antiga “Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira e seu Claustro” transmite-nos a história de Guimarães, cuja essência se encontra em cada uma das peças expostas, das quais se destaca a admirável habilidade do trabalho manual e a extraordinária beleza dos seus doze Tesouros Nacionais.
Alfredo Guimarães aprofunda e esclarece-nos todos esses enigmas, através da extensa bibliografia que publicou e que, ainda hoje, nos orienta e educa a sensibilidade, através da forma de olhar, compreender e surpreender a delicadeza das Artes Decorativas.
Nasceu no Largo da Oliveira, em 7 de setembro de 1882, numa pequena casa situada exatamente em frente do portal da Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira, junto do Padrão e da Oliveira que dá o nome ao largo. Daí podia ainda avistar a porta do claustro da Colegiada que, mais tarde, foi a porta do “seu” museu e do qual foi o fundador e o primeiro diretor.
Era filho de José da Silva Guimarães, barbeiro e funcionário da Fábrica do Castanheiro, e de Maria Justina Cristina, costureira, sendo o segundo de uma família de nove irmãos. Desde muito cedo começou a despertar para as letras, dando início a uma intensa colaboração com a imprensa local que, nessa época, era bastante diversificada. Aos 21 anos tornou-se editor da revista literária Ala Moderna (1903) e publicou um livro de poesia. Em 1907, com 25 anos, foi para Lisboa, para funcionário do Ministério da Justiça e aí começou a colaborar com o jornal O Século e nas revistas Ilustração Portuguesa, Terra Portuguesa e outros periódicos de Lisboa e Porto. Escreveu, sobretudo, belos contos de temática etnográfica ligada a Guimarães, mas também poesia e teatro. Por volta de 1918, casou com Maria Cândida (1891-1941) e foi viver para Lamego onde continuou a colaborar com a imprensa. Mas o contexto que o envolvia levou-o a dedicarse com grande afinco e perseverança ao estudo da História da Arte. Para além do habitual, investigou ainda alguns temas inéditos para a época, como a pintura mural, o guadameci, o têxtil, o mobiliário e outros. A sua biblioteca pessoal com cerca 796 livros em português, francês e espanhol, e os 34 títulos de publicações periódicas, passou a ser específica, acompanhando o desenvolvimento dos estudos de História da Arte. Em colaboração com o professor Albano Sardoeira (1894 -1963), escreveu o Mobiliário Artístico Português: Lamego (1924), e continuou a publicar artigos e monografias, comprovando o seu gosto e a enorme sensibilidade para as Artes Decorativas.

Finalmente, ao fim de quase uma década, regressou a Guimarães. Afirmava que «[…] depois de uma ausência de quase um quarto de século, voltamos a Guimarães em 1928, com um mandato oficial de procedermos à instalação do Museu Regional de Alberto Sampaio […]»113. Fora nomeado delegado do Governo para, em colaboração com o Arquiteto Baltasar de Castro, diretor dos Monumentos Nacionais do Norte, acompanhar as obras de recuperação do claustro da Colegiada, de origem românica, classificado como Monumento Nacional. Simultaneamente, começou a fazer a instalação do museu, criado em 17 de março de 1928, pelo decreto n.º 15209, tendo iniciado a incorporação das peças do Tesouro da Colegiada, extinta em 1911. Para conseguir angariar fundos para as obras e para a museografia, criou em 1928 o Grupo dos Amigos do Museu e, em junho de 1929, deu início a uma campanha pública de sensibilização para a preservação do

113
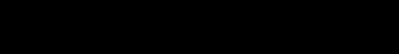
património intitulada «Salvai o Claustro da Colegiada», a fim de conseguir concluir as obras de restauro. Inaugurou o Museu de Alberto Sampaio em 1 de agosto de 1931, e pouco tempo depois foi nomeado seu diretor.

No seu trabalho de museologia e gestão de coleções, inventariou e fotografou as peças de qualidade do acervo, adquiridas por compra a particulares e antiquários, por depósito, doação e troca, tendo-as estudado e divulgado através de estudos publicados na série Estudos do Museu de Alberto Sampaio, e de uma extensa bibliografia. Organizou exposições, procurou restaurar as peças, cedeu-as temporariamente para mostras, nomeadamente para a de Os Primitivos Portugueses, realizada em 1940, no Museu Nacional de Arte Antiga. Iniciou ainda o registo fotográfico das peças existentes, em colaboração com a Foto-Cine, cujos negativos fazem, agora, parte do Arquivo Fotográfico do Museu de Alberto Sampaio. Teve ainda a seu cargo a gestão do castelo, solicitou a capela de São Miguel para realizar ações culturais (1943) e influenciou Oliveira Salazar para iniciar o restauro do Paço dos Duques de Bragança (1933). Colaborou com a II Missão Estética de Férias (1938), orientada por Aarão de Lacerda. Foi sócio correspondente da Academia Nacional de Belas-Artes (1935), fez parte da Comissão de Estética da cidade (1932, 1937, 1950), e pertenceu à Comissão de Arte e Arqueologia (1952).
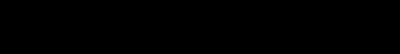

Pelo seu extraordinário trabalho, foi agraciado com o grau de Cavaleiro da Ordem Militar de Santiago de Espada (1932), homenageado com a Medalha de Ouro da Cidade (1959), e o seu busto em bronze, esculpido pelo escultor Luís Fernandes, foi colocado no claustro do “seu” museu. Apesar de ter atingido o limite de idade em 1952, continuou a gerir o museu até ser substituído. Faleceu em Guimarães, na sua casa da rua de Camões, em 29 de novembro de 1958114 .
114 A coleção de pintura e a biblioteca pessoal de Alfredo Guimarães, foram doadas ao Museu de Alberto Sampaio, pelo seu sobrinho José Joaquim da Silva Guimarães e sua esposa Maria Edviges Ruão Dias de Castro Silva
 Maria Eva Machado
Maria Eva Machado

“E pelo poder de uma palavra
Recomeço a minha vida Nasci para te conhecer Para te nomear
Liberdade”
PaulÉluard

Emídio Guerreiro, o Professor, como carinhosamente era tratado, nasceu em Guimarães, a 6 de Setembro de 1899, numa família com ideais republicanos. Estes ideais que nele cedo se revelariam, iriam levá-lo a um combate, sem fronteiras, contra as ditaduras que se faziam sentir em três países da europa.
Foi na sua cidade natal que fez os seus primeiros estudos. Do Colégio do Padre José Maria, onde estudou, e dos seus professores, que eram padres, dizia ter ficado com boas recordações e também com a paixão pela leitura. Ávido de conhecimentos e cultura diversificou as escolhas entre escritores estrangeiros e portugueses. Mais tarde, alistou-se como voluntário no exército, integrando o Regimento de Infantaria 20, sediado na altura, no Paço dos Duques de Bragança, em Guimarães, o que lhe facultou a possibilidade de tirar uma licenciatura em Matemática, na Faculdade de Ciências, no Porto. Durante este tempo foi sempre um jovem activo, crítico das injustiças que imperavam em Portugal e interveniente social e politicamente. Integrou o Orfeão Universitário, fez parte do grupo de teatro da universidade e presidiu à Associação Académica. Convicto republicano, envolveu-se em manifestações e participou na revolta de 3 de Fevereiro de 1927, no Porto, contra a ditadura militar, o que lhe custaria alguns dissabores na carreira militar.
É por esta altura que entrou em contacto com a Maçonaria por intermédio dos irmãos Cal Brandão, iniciando-se na Loja “A Revolta”, em Coimbra. Algum tempo depois, será um dos fundadores da Loja “A Comuna”, no Porto. Sobre a sua entrada na maçonaria afirmava que “na ocasião não estava muito de acordo
com os princípios da Maçonaria, mas (…) numa perspectiva política, a Loja era, na prática, mais um organismo conspiratório contra a ditadura115 (Viegas, 1998: 98).”

Mas todas as suas actividades, quer políticas, sociais ou como docente de matemática, estavam cada vez mais vigiadas. Por volta de 1930, foi retirado da escola onde lecionava, no Porto, e enviado para Cernache de Bonjardim, em regime de residência fixa, ordem que não respeitou, e que teve como consequência um telegrama do Ministério da Instrução a demiti-lo do cargo. Mesmo vigiado e sem trabalho, Emídio Guerreiro, não silenciou os seus ideais políticos e a sua revolta contra o sistema vigente. Ficou célebre o Manuscrito que publicou e distribuiu, quando o Presidente Óscar Carmona visitou o Porto, onde incitava o povo a receber o Presidente “com merda às mãos cheias”. É claro que foi logo preso e mandado para a prisão do Aljube, em Lisboa. Não estará lá muito tempo, pois evadiu-se a 4 de Abril de 1932.
Para ele, guerreiro de nome próprio e guerreiro na defesa da liberdade, as grades mais resistentes não eram, certamente, as de ferro, mas as que matam o sonho. As de ferro venceu-as, e o sonho guiou sempre os seus princípios de defesa intransigente da dignidade humana e da liberdade.
O “professor” teve de fugir também de Guimarães, cidade que sempre trazia no coração, e o percurso da sua vida, daí para a frente, fez dele um cidadão do mundo. Portugal, Espanha, França foram países que percorreu na condição de combatente, contra as ditaduras de Salazar, Franco e Hitler. Foi perseguido, expulso do ensino ou impedido de leccionar, foi preso, foi torturado e exilado. Mas, apesar da dor e do sofrimento pelo qual passou, a sua vontade de ver surgir um mundo mais justo, mais livre e mais fraterno nunca o abandonou. Mesmo depois da libertação de França do jugo nazi, e exilado em Paris, continuou a combater as duas ditaduras que teimavam em não soçobrar: em Portugal, a de Salazar116, em Espanha117, a de Franco, integrando várias iniciativas e manifestações.
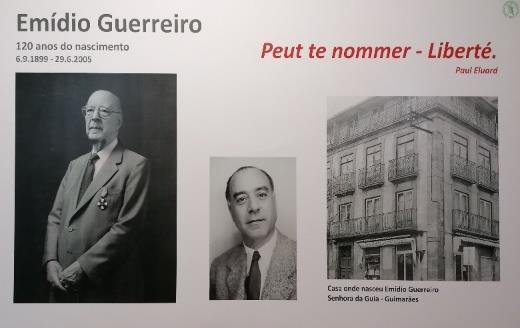
À sua casa, em Paris, chegavam homens e mulheres refugiados em busca de abrigo ou apoio. E ele
115
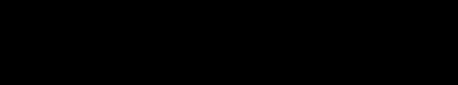
116
117
VIEGAS, A. Encarnação (1998). Emídio Guerreiro – Uma vida pela Liberdade. Lisboa: Notícias Editorial.
Em Portugal, a ditadura fascista de António Salazar caiu no dia 25 de Abril de 1974.
Em Espanha, a ditadura fascista de Francisco Franco caiu em 1975, após a morte do ditador.
tornou-se “um verdadeiro «embaixador» da resistência ao fascismo, acolhendo e apoiando todos quantos procuravam o seu auxílio para escapar às garras da ditadura e da PIDE, a sua tristemente polícia política. Esteve nos Congressos e reuniões da Federação Internacional dos Direitos do Homem, divulgando os nomes dos presos políticos que a ditadura queria esconder; presidiu ao Comité para a Defesa das Liberdades em Portugal; fundou e foi dirigente da Liga de União e Acção Revolucionária (LUAR); foi o representante, em França, do General Humberto Delgado, até ao seu assassinato e da sua secretária, pela PIDE, em Espanha, perto da fronteira portuguesa, a 13 de Fevereiro de 1965. Desencadeou uma campanha internacional de denúncia deste assassinato, percorrendo vários países, contactando instituições, enquanto a ditadura tentava esconder a sua responsabilidade no crime (ASMAV, 2019: 14-15)118. Com coragem e verticalidade combateu as pandemias que ainda hoje assolam o mundo: o medo, as guerras e as ditaduras.

Emídio Guerreiro foi também um brilhante professor de matemática e uma referência intelectual e humana para quem o conhecia. Era bom conversador e gostava de tertúlias animadas onde se discutia de tudo, desde literatura, filosofia, arte, política, associativismo e, claro, matemática. Mas dizia sempre, quase como conclusão, que tinha duas grandes paixões: a primeira era o combate pela liberdade e a outra a matemática.
Quando em Abril de 1974, depois de 40 anos de exilio, regressou à Guimarães, a cidade recebeu-o com muita alegria. Aderiu ao então PPD, do qual foi Secretário-Geral durante o período em que Sá Carneiro foi para Londres, mas foi por pouco tempo que dirigiu o Partido, tendo saído com profundas divergências com Sá Carneiro, como ele dizia, “porque nunca fui talhado para dirigir Partidos". Nos anos seguintes será alvo de algumas homenagens, por parte de instituições da cidade, de amigos e do Governo. Teve uma vida longa e bem preenchida. Aos 105 anos de idade, e segundo as suas palavras, gravadas na pedra como epitáfio, “faleceu conforme sua vontade, no dia 29-6-2005, sem interferência de qualquer transcendência”. Podemos dizer que, como exemplo da sua grande humanidade, ergueu o Centro de Solidariedade Humana “Emídio Guerreiro”, onde residia quando vinha a Guimarães, e deixou todos os seus bens à Misericórdia de Guimarães e parte do seu espólio à Biblioteca Raul Brandão e à Sociedade Martins Sarmento.
Ainda tive oportunidade de ouvir algumas histórias de viva voz deste grande democrata, e de partilhar um ou outro jantar com ele, momentos que recordo com muito carinho. Hoje e aqui apenas afloro a sua
intensa e longa vida para lhe prestar a minha singela homenagem como vimaranense. E porque a nossa identidade é feita de memórias e histórias, Emídio Guerreiro também nos deixou o dever cívico de transmitir às gerações vindouras o seu exemplo ao serviço de causas e de pessoas. Na altura da sua morte, António Arnaut119 referiu-se a ele com esta frase deliciosa, que li e não mais esqueci, porque o define na perfeição: “Emídio Guerreiro é um misto de D. Quixote e de Che Guevara”.
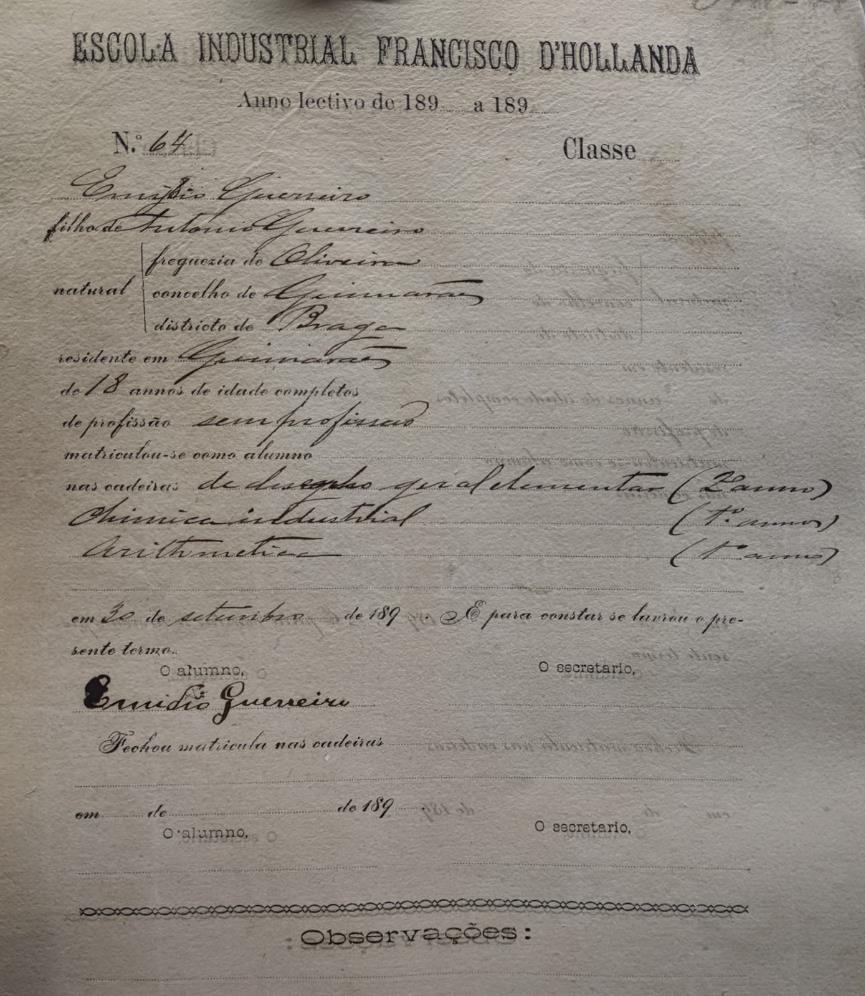
Emídio Guerreiro recebeu altas condecorações de França, de Espanha e de Portugal. O seu exemplo e a sua memória não poderão jamais ser esquecidos, particularmente por Guimarães, cidade onde nasceu e cresceu. O Município de Guimarães está bem consciente da justiça dessa homenagem e penso que não tardará muito para que o seu nome seja para sempre lembrado na cidade do seu coração.
Bem-haja, professor, por nos legar o seu exemplo de vida.


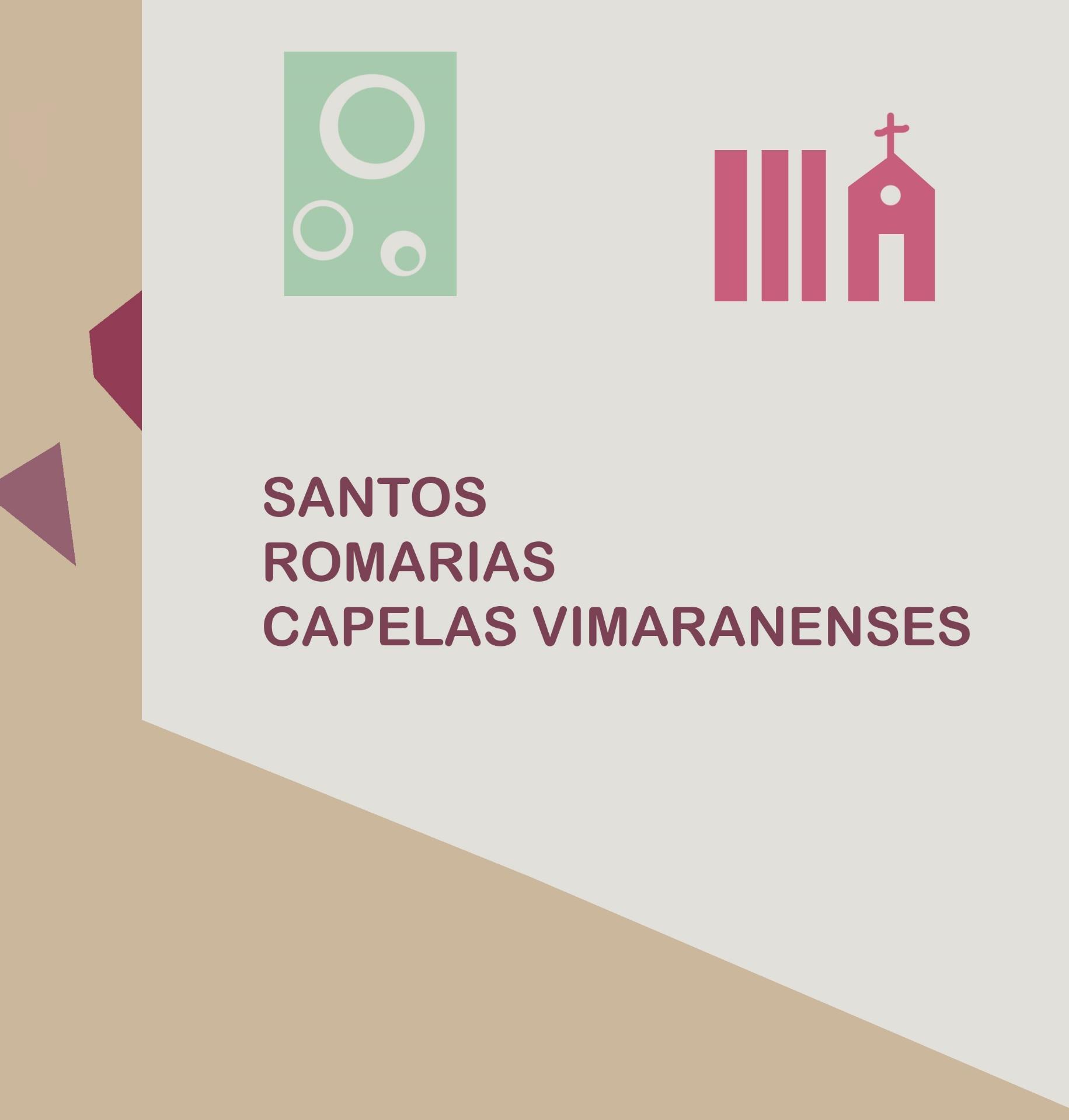
Santos, romarias e capelas vimaranenses
Neste espaço, já de si exíguo, reservamos ainda um cantinho para os santos, romarias e capelas da nossa terra.
Assim, nesta primeira visita hagiográfica sobre os santos da casa, que continuam a fazer milagres, começamos por Santo Amaro, que marca em Guimarães a primeira romaria do ano, seguindo-se S. Dâmaso e S. Gonçalo de Amarante, que afinal é de Tagilde. E como da freguesia do Abade de Tagilde até S. Torcato são dois passos de caminho, a nossa peregrinação estender-se-ia ainda à vila torcatense, que em 2022 celebra 170 anos da transladação do corpo incorrupto do santo, data da primeira Romaria Grande.
E obviamente como não há santo sem ermida, capela, igreja, santuário ou basílica, pois até entre os santificados há desigualdades santíssimas, visitamos também a Capela de S. Nicolau, patrono das Nicolinas, que muito tem para contar; e ainda a Capela de Santa Catarina da Serra, lá no alto, quase no céu, na montanha da Penha, agora acessível por teleférico.

Santo Amaro marca a primeira romaria do ano, entre 15 de janeiro (dia do santo) e o domingo seguinte, sendo celebrado em Guimarães nas freguesias de Mascotelos, Arosa, Donim e S. Martinho de Sande.

No entanto, o Santo Amaro de Mascotelos é provavelmente o mais badalado e remontará plausivelmente a 1604, ano de construção da primeira capela dedicada ao santo, que mais tarde, em 1770, seria transformada em igreja paroquial.
Com efeito, a despeito do orago da freguesia ser S. Vicente é este santo, padroado dos ossos, que tradicionalmente tem honras de festa, que extravasa as fronteiras da freguesia e atrai maioritariamente o mundo rural.
De facto, para além da feira franca de gado bovino, uma das principais atrações da romaria, que geralmente serve de regulação anual para o preço do gado, a sua exibição é também motivo de orgulho dos lavradores, que marcam presença numerosa e capricham na apresentação dos seus animais.

Ademais, a procissão e o arraial, no domingo, são outros momentos de atração. De tal forma que o etnógrafo vimaranense Alberto Vieira Braga considera que “ir à romaria de Santo Amaro é ir ao encontro dos namorados, dos brilhantes, do movimento, da algazarra, dos bons farnéis e, por vezes, da larga pancadaria, entre os rivais do derriço.”.
Efetivamente, o “jogo de brilhantes”, mais não era do que papelinhos, coloridos e brilhantes que eram atirados às cabeças dos romeiros, em especial dos mais jovens e solteiros. No fundo um ritual de enamoramento, aparentemente inofensivo, mas que por vezes provocava rixas, por abusos ou inconveniências.
Quanto ao santo, crê-se que terá nascido em Roma, quiçá em 512, e que terá sido entregue pelos pais aos cuidados de São Bento, com apenas 12 anos. Após formação, terá sido enviado para França, onde teria fundado o primeiro mosteiro beneditino e por terras gaulesas viria a falecer vítima da peste.
Relativamente aos milagres deste monge beneditino, consta que terá caminhado sobre as águas, sem
se aperceber, para salvar o jovem Plácido de morrer afogado, e de ter curado um garoto mudo e paralítico. Considerado como um homem de virtudes e cumpridor do ideal monástico, é hoje venerado pela crença da sua intercessão para a cura das doenças relacionadas com os problemas articulatórios e dos ossos. Por isso, nos seus locais de culto os promitentes deixam frequentemente peças de cera em forma de braços ou pernas, mas também muletas, que são ofertadas pelos fiéis curados e que já não precisam delas para caminhar sobre a vida. Por isso, o santo é iconograficamente apresentado com uma muleta, acompanhada por um báculo abacial, com sua vestimenta de frade, com capuz.
S. Dâmaso terá nascido no Guimarães antigo, em 304, tendo sido enviado para Roma por seus pais, onde granjearia admiração pela sua ciência, piedade e virtudes, que o levaram à intimidade com o Papa Libério. Designado vigário de Roma após o desterro de Libério e posteriormente papa após o falecimento deste, em 1 de outubro de 366, Dâmaso vivenciaria um pontificado difícil nos primeiros tempos. Porém, conseguiria vencer os seus inimigos e confundir os cismáticos em vários concílios, acabando por ser cognominado Dâmaso, Adamans Fidei, no sexto consílio, em Constantinopla.
Dâmaso foi um papa distinto que, além do seu virtuoso pontificado, contribuiu também para a valorização das sagradas letras, em especial através das suas epístolas, obras poéticas e no resumo de alguns volumes de ambos os Testamentos, em verso hexâmetro, que se encontram na Igreja de S. Pedro. Outrossim, distinguir-se-ia nas belas artes e obras diversas, bem como nas reformas do culto externo, instituindo a festa de Nossa Senhora da Assunção e várias alterações no sacrifício da missa, como são o Credo, Aleluia, Salmos e Glória, que ainda hoje se observam.
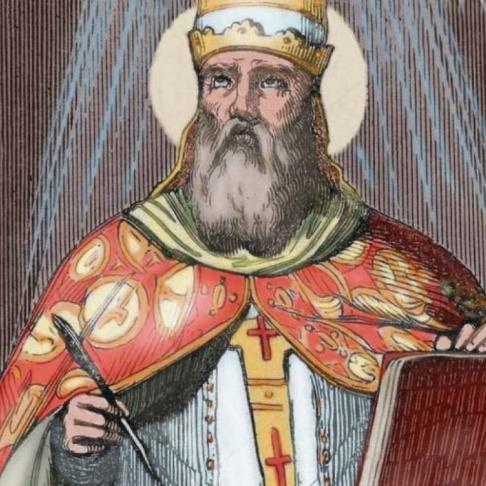
S. Dâmaso. Fonte - Mensagens com Amor
Governou a sé romana durante 18 anos, dois meses e oito dias, falecendo em 11 de dezembro de 384, com 80 anos de idade.
Sepultado no seu jazigo, na basílica de Santa Rufina, junto dos restos mortais de sua mãe e irmã, Santa Irene, foi a 30 de setembro de 1645 transladado pelo cardeal Francisco Barberino para um sumptuoso mausoléu de bronze, com o seguinte epitáfio:
“SUB HOC ALTARI CONDITA SUNT

Em Guimarães, este emérito vimaranense está recordado na Igreja de S. Dâmaso, que se situava na rua do mesmo nome, mas que na década de 60, devido a uma renovação urbanística, seria transladada e reconstruída no Campo de S. Mamede, próximo do Castelo.
Uma igreja dos séculos XVII/XVIII, que para além do notável retábulo em talha dourada do entalhador vimaranense Pedro Coelho, possui belos azulejos decorativos que historiam episódios da vida do papa vimaranense, cujas armas se encontram no seu portal, na fachada principal.

S. Gonçalo de Amarante, afinal nasceu em Guimarães, por volta de 1187! De facto, o beato casamenteiro das velhas, que seria apenas canonizado pelo povo, nasceu no Casal de S. Salvador ou de Arriconha, junto ao rio Vizela, na freguesia do Divino Salvador de Tagilde.

Oriundo da família nobre dos Pereira, desde cedo o jovem Gonçalo se revelou vocacionado para o mundo místico. Assim, iniciaria os seus estudos eclesiásticos no mosteiro beneditino de Santa Maria do Pombeiro de Ribavizela (Felgueiras) e, posteriormente, no Paço Arcebispal de Braga, onde seria ordenado sacerdote.
S. Gonçalo de Amarante. Fonte amaranteturismo
Exerceria então o ofício divino na vizinha freguesia de S. Paio de Vizela e seria ainda cónego de Santa Maria da Oliveira (Colegiada de Guimarães). Todavia, perante o chamamento dos lugares santos, acabaria por partir em peregrinação para o Médio Oriente, onde permaneceria cerca de catorze anos, deixando ao seu sobrinho tudo o que tinha e a sua Igreja. No seu regresso, porém, o seu sobrinho não o reconheceria e acusá-lo-ia de ser impostor, o que levou Gonçalo a procurar abrigo num lugar ermo nas margens do rio Tâmega, local onde instalou a sua ermida e viveu durante vários anos uma vida santa e cheia de fé, no amor ao próximo. Com efeito, seria a partir da ermida arruinada dedicada a Nossa Senhora da Assunção que Gonçalo e seu companheiro Lourenço Mendes, iniciariam a sua vida evangelizadora e de ajuda às populações locais. Apoio que passaria inclusive pelo restauro e reedificação da ponte romana sobre o Tâmega, cuja estrutura só cederia em 1763, por força das águas.
E seria esta praxis simples de proximidade com a população e a crença nos seus dotes sobrenaturais, que levaram o povo a dedicar-lhe uma grande devoção e a afluir ao seu sepulcro e àquela sua ermida da paróquia de S. Veríssimo, onde esteve muitos anos sepultado, que, mais tarde, passaria para todo o sempre a ser conhecida por Abadia de S. Gonçalo de Amarante.
De facto, ali, por essas paragens, por favorecimento do poder real, terão surgido então casas de caridade e recolhimento, chamadas “beatrias”, que pertenceriam à Igreja de Guimarães. Deste modo, com o rodar dos tempos e a afluência de romeiros, a antiga ermida daria lugar a um Mosteiro edificado pelos frades de S. Domingos de Guimarães o que viria a ocorrer em 1599, com a ajuda da rainha D. Catarina, mulher de D. João III.
Falecido em 10 de janeiro de 1250 e beatificado pelo papa Pio IV, em 16 de setembro de 1561, o culto de S. Gonçalo de Amarante mantém-se vivo e propagou-se mundo fora, em especial até ao Brasil.
Culto a que não será também alheio a sua fama de casamenteiro das velhas e encalhadas, como reza a lenda, enquanto Santo António cuidaria dos matrimónios das novas.
Daí que, brejeiramente, complementarmente ao seu culto religioso, o profano e popular dê conta dos seus poderes casamenteiros:
“S. Gonçalo de Amarante

Casai-me que bem podeis, Já tenho teias de aranha, Naquilo que bem sabeis
S. Gonçalo de Amarante Casamenteiro das velhas, Porque não casas as novas?
Que mal te fizeram elas?”
Ou, como preconiza a oração: S. Gonçalo de Amarante, casamenteiro que sois, primeiro casais a mim: as outras casais depois …
S. Torcato é o orago de freguesia à qual dá o nome, cuja veneração remontaria aos tempos em que seu corpo incorrupto teria surgido em Guimarães, no início do século VIII.
Com efeito, de acordo com a biografia do santo, de autoria de Domingos Sillos, que contaria com a aprovação eclesiástica, S. Torcato seria natural de Toledo e foi arcipreste dessa mesma cidade espanhola e
depois bispo de Iria Flávia, na Galiza. Mais tarde, seria nomeado bispo do Porto e posteriormente arcebispo de Braga, ainda que na versão do cónego da Colegiada de Guimarães, Gaspar Estaço, tenha sido discípulo predileto do Santo Apóstolo que foi Santiago.
No entanto e segundo a lenda, S. Torcato teria sido morto por Muça, chefe muçulmano que invadira a Península Ibérica na segunda década do século VIII. Efetivamente e segundo a tradição popular, S. Torcato seria morto por Muça, em 719, mas venceria, ao libertar-se da lei da morte na memória do povo, que o recorda como santo e mártir.
Realmente, de acordo com a lenda e como conta Alberto Pimentel, um monge beneditino de Guimarães, viu irromper “um clarão estranho do sítio onde o cadáver ficara” e guiado por tal sinal removeu as pedras da sepultura e encontrou o corpo de S. Torcato “revestido de uma samarra cor de telha, tendo ao lado um cajado tosco, símbolo da sua jurisdição espiritual”.
Nesse local, segundo relatou, em 1692, o padre Torquato de Azevedo, seria erigida uma “capelinha tosca e, junto da parede exterior do lado esquerdo, colocou-se uma pia de pedra onde cai a milagrosa água nascida na primitiva sepultura do santo.”


No entanto, o corpo incorrupto de S. Torcato seria bastante desejado. Deste modo, três tentativas de transladação ocorreriam, todas elas frustradas: a primeira, em 1501, quando o rei D. Manuel I ordenou a concentração nas sedes concelhias das relíquias dispersas e a consequente transladação do corpo do santo para a Colegiada de Guimarães, decisão que mereceria a oposição popular; a segunda em 1597, quando o arcebispo D. Agostinho de Jesus e Castro ordenou a transladação do corpo do santo para a Sé de Braga, que teria também merecido a resistência do povo; e como não há duas sem três, a terceira vez por parte do arcebispo de Braga, D. Sebastião de Matos e Noronha, em 1637. Tentativas goradas que levaram o povo a escrever:
“São Torcato, corpo santo Trancai as portas por dentro Que o Arcebispo de Braga Quer o vosso rendimento.”
E, deste modo, o santo por S. Torcato ficaria criando-se a Irmandade de S. Torcato em 1693 e iniciando-
se a construção do santuário em 1825, cujas obras se arrastariam e terminariam recentemente e inaugurando-se o Museu de S. Torcato em 1985 que recolhe várias dádivas ao santo.
E mantém viva na devoção pelo santo e a festa, no decurso das suas romarias: a Romaria Grande e a Romaria Pequena, conciliando o religioso e o profano.
Um santo que é tido como padroado de todos os males, ou seja, como expressa Augusto Santos Silva, um médico santificado “de clínica geral”, uma vez que tanto atende às necessidades do corpo como da alma, às enfermidades físicas e sucessos profissionais, como ainda ao êxito agrícola ou à livração do serviço militar.

A devoção e culto ao apóstolo São Tiago manifesta-se na região Entre Douro e Minho, em finais do século IX, como testemunham as nomeações do santo como padroeiro, orago, de várias paróquias, que irá aumentar em consequência da passagem de peregrinos de todas as classes sociais, incluindo reis.
No censual do século XI são referidas várias dessas paróquias distribuídas pelos concelhos de Viana do Castelo, Barcelos, Famalicão, Braga Guimarães e Ponte de Lima.

Em Guimarães, as celebrações tiveram grandiosidade em meados do Século XIX, havendo referências ao evento, em 1842, no Inquérito Paroquial em que é feita, pelo pároco da Costa, menção à igreja e culto a São Tiago: “A igreja é muito boa, grande e formosa até o último gosto e a frontaria o melhor possível. Tem esta igreja seis altares: … O das Almas tem Santa Luzia e S. Tiago…”
“A 25 de julho, dia de S. Tiago, tem lugar aqui a chamada romaria da Costa; dirigindo-se em visita a esta igreja três rondas, que conduzem em altos e garridos andores, das suas respectivas igrejas as imagens de Santa Catarina da Serra, Nossa Senhora de Atães e outra Senhora de Santo Estevão de Urgeses, além do andor de S. Tiago, que na despedida das rondas, ao fim da tarde, as acompanha até ao fundo dos grandes pátios, que descem da igreja.
Cada uma destas rondas traz consigo uma música marcial e é acompanhada por numerosíssimos romeiros que, de toda a parte, neste dia, se dirigem à Costa, para gozarem das alegrias da festa e do aprazível local”.
Foi assim durante décadas até 1945, embora tenha perdido a sua grandiosidade, a partir de 1915, e um interregno entre 1935 e 1940.
Era uma romaria em que participavam todas as classes sociais. “A vila despejava toda a sua gente na Romaria da Costa”, refere Alfredo Pimenta, nas Páginas Minhotas. Atraía “toda a população do burgo, nas suas múltiplas camadas e actividades sociais. Desde a sopeira e o magala, até o filho de família abastada e o burguês amesendado à sombra do coupon – tudo ia lá.”
Festejava-se a passagem de S. Tiago no calendário e no ciclo agrícola que atingia a maturidade dos frutos (pelo Santiago pinta o bago) e anunciava as colheitas. Era esta devoção pretexto para que as freguesias de Santa Maria de Atães e Santo Estêvão de Urgeses convergissem com a de Santa Marinha da Costa na celebração de festividades litúrgicas e lúdicas em honra do Santo.

Assim, cada uma com os seus padroeiros - Santa Maria (de Atães), Senhora do Rosário (Urgeses) e Santa Catarina - dirigiam-se em procissão até ao local envolvente da Igreja da anfitriã, Santa Marinha da Costa, onde a imagem de São Tiago as esperava no largo do Cruzeiro.


Seguiam-se as celebrações litúrgicas que constavam de missa cantada seguida de um sermão e, de tarde, um cortejo processional em que participavam os andores.
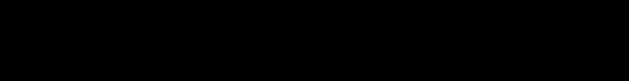
Começava depois o arraial com bandas de música, foguetes e o percorrer dos toldos que ofereciam frutos, bacalhau e vinho da pipa.
A grandiosidade das procissões impunha-se pela imponência dos andores que transportavam os santos padroeiros, na sua altura e riqueza de ornamentos
Para além da multidão e da banda de música, a grandiosidade das procissões impunha-se pela imponência dos andores que transportavam os santos
padroeiros, na sua altura e riqueza de ornamentos, como refere Alfredo Guimarães: “…sobe ainda mais para oito metros de altura com o seu anjo em vulto sobre a cúpula e as quatro altas asas laterais de palhões e lantejoulas, o andor a capricho de Nossa Senhora de Atães…”

Era grande a rivalidade nas armações dos gigantescos andores em que o limite era o céu, qual Torre de Babel; a altura subia sempre, motivando até pancadaria e desordem por parte dos festeiros.
“Romaria de S. Thyago; este ano foi concorrida e mais luzida, porque foi a ella mais uma ronda. No arraial depois das 5 rondas tocaram como em torneio musical as 5 bandas de música que as acompanharam; assanhando-se a rivalidade entre duas, desta cidade, resultou um pequeno bulício que foi imediatamente acomodado pela intervenção administrativa e da força armada” (João Lopes de Faria – Efemérides Vimaranenses)
Como no episódio bíblico, foi a altura que os perdeu, após limitação da altura por parte do Arcebispo de Braga, D. Manuel Vieira de Matos, que não foi respeitada e ele suspendeu a romaria. Assim começou o declínio da festa que acabaria por se extinguir.
Carlos
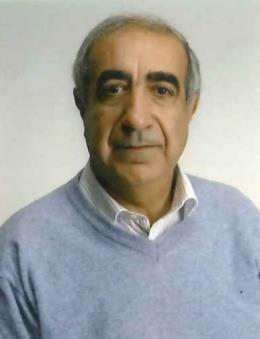
A devoção a S. Nicolau tem sido tema sobre o qual muito se tem debatido, com repercussão, quer a nível local, quer a nível nacional.
As várias gerações académicas que frequentaram o ensino liceal, ou estudos, quer na Colegiada de Guimarães, quer no Mosteiro da Costa, foram durante séculos os percussores da divulgação da adoração a S. Nicolau, em Guimarães.
Mas as tradições escolásticas de Guimarães nem sempre foram transmitidas aos vindouros como deveriam ser a não ser à margem das efemérides vimaranenses.
Houve nos anos 40 um vimaranense, A L de Carvalho, que teve a ideia e a ousadia de transcrever em Livro as tradições académicas, tendo para isso ido “basculhar” os vários arquivos existentes nesta cidade, trabalho esse sobre a festa escolástica.
É de notar que este vimaranense, segundo diz, “não teve a ventura de frequentar os cursos onde se alcança, a par do Saber, o título apreciável de Estudante”.
Dois centros culturais houve na nossa terra, que foram a base geradora de todo o ensino público em Guimarães: - A Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira e o Mosteiro dos Frades Jerónimos da Costa.
A 1ª foi estatuída em 1291, por el-rei D. Dinis, e a segunda em 1541, por el-rei D. João III.
O ensino da Colegiada dispunha das seguintes disciplinas: gramática latina, cantochão, moral, sendo os seus alunos conhecidos por “meninos do coro”; no Mosteiro da Costa, lecionava-se latim, filosofia, teologia e humanidades, sendo Frei Diogo de Murça um dos grandes Directores, e foi na sua direcção que houve maior apoio, estudo e interesse na devoção a S. Nicolau, uma vez que tinha regressado de Itália, onde tivera contacto com a adoração ao Santo.
Vários documentos medievais entre os anos de 1328 e 1349 oferecem-nos uma visão dos primitivos estudantes de capa e batina, calção e sapato de fivela, usando uma grande guedelha.
Foram, pois, estes estudantes, que transmitindo o saber e o fazer ao longo dos anos e gerações, que, no século XVII, fundaram a Irmandade de S. Nicolau, sem esquecer que, mesmo antes da Irmandade ser instituída, já havia em Guimarães o culto a S. Nicolau, conforme é comprovado por um documento existente no Arquivo Municipal Alfredo Pimenta.

A principal preocupação dos estudantes era dotar a Irmandade de uma Capela, tendo para o efeito organizado comédias e danças, como se verifica no Inventário Geral da Colegiada, relativo ao ano de 1664, onde se vê o seguinte:- “A capella de S. Niculao fizeram na os estudantes desta Villa, e outros devotos, de dinheiro q. ganharão em comedias e danças q. por devoção do Sto e augmto da Capella aseitavão o dr. o que se lhe dava”.
Em 1691 são votados os estatutos da Irmandade de S. Nicolau, onde se registam os fins pios, os devotos da Irmandade, o culto do Santo, a assistência aos confrades mortos, o sufrágio das almas e ainda pormenores sobre o funcionamento da Irmandade. É também contemplada a prática das danças e comédias, como meio de receita da Irmandade, que deveria reverter para a edificação da Capela.
A festividade celebrava-se em Maio e a ela assistiam os confrades “com suas medalhas penduradas ao pescoço por hua fita branca”.
Os Confrades da Irmandade de S. Nicolau não envergavam opa, sobre a seda.
A.L de Carvalho refere que, em 20 de Maio de 1662, foi apresentado ao Cabido uma petição de devotos para a obtenção de um lugar para a construção da Capela de S. Nicolau, nos seguintes termos: - “q. de muitos anos a esta parte tinhão tensão e Bispo, p.a nella levantarem Confraria e Irmandade … e por q. nesta Igreja de N. Srª da Oliveira era lugar mais conveniente p.a edificação da dita Capella, lhe pedião (…) mercê do sitio para ela”. O Cabido acedeu, destinando para a construção da Capela o lugar junto da porta travessa da dita Igreja da parte direita della encontada a Sacristia junto a Capella de Stº Estevão no quintal que he do Sacristão.
No livro Memórias Ressuscitadas da Antiga Guimarães (1692), o Padre Torcato Peixoto de Azevedo aponta claramente o local onde se situava a Capela – “ Na parede da Igreja da parte do Evangelho e do norte e abaixo da porta por onde se sai da Igreja para a Sacristia dos Cónegos, se abriu um arco para a Capela de São Nicolau Bispo (…), entre esta capela e a escada que vai para o coro de cima está a porta travessa da igreja que corresponde ao norte e tem a sua serventia para a rua que chamam de Santa Maria”.
O mesmo autor refere que esta Capela foi mandada fazer “`à sua custa (pelos) Estudantes desta Vila no ano do Senhor de 1663”, refere igualmente que a “Capela de São Nicolau fizeram-na os estudantes desta Villa, e outros devotos, de dinheiro q. ganharão em comédias e danças q. por devoção do Santo e augm.to da capella aseitavão o dr.o que se lhe dava”.

No arco de entrada da capela havia um letreiro que dizia: - “Esta Capela mandarão fazer os Estudantes desta Villa no anno do Senhor de 1663”.
Para o efeito foi lavrado um contrato, assinado em 21 de Novembro de 1661, onde minuciosamente é descrita a Capela, sendo seu executante o Mestre de Pedraria Domingos Lourenço, de Monte Longo.

Este pequeno templo sofreu várias alterações. Na primeira metade do seculo XVIII, o seu interior era totalmente revestido de azulejos, e tinha um retábulo onde a imagem do Padroeiro estava ladeada pelas de

S. Jerónimo e de S. Pedro Mártir. Em 1780 foi feita uma clarabóia envidraçada para haver maior iluminação do seu interior. Em 1781 foram feitas umas grades de pau, para impedir que lá fossem arrumados pelos Cónegos certos objectos que eram considerados indignos quer para o Santo, para a Capela, bem como para a Irmandade e seus confrades.

Com o passar dos tempos a função da capela foi alterada, deixando de ter funções litúrgicas, para ser transformada em sacristia ou sala de despacho da Irmandade. A capela deixou de ter comunicação directa com a nave lateral, passando o acesso a fazer-se por um estreito corredor, que conduz às escadas para a torre. A devoção a São Nicolau esteve sempre enraizada nesta cidade e nos estudantes, tendo surgido a Irmandade como uma associação eminentemente religiosa, centrada na devoção ao seu Patrono, não sendo alheio a prestação de auxílio mútuo, espiritual ou material. Como todas as instituições deste género, a Irmandade foi adquirindo o seu espólio e aumentando os seus bens.
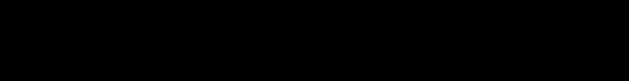
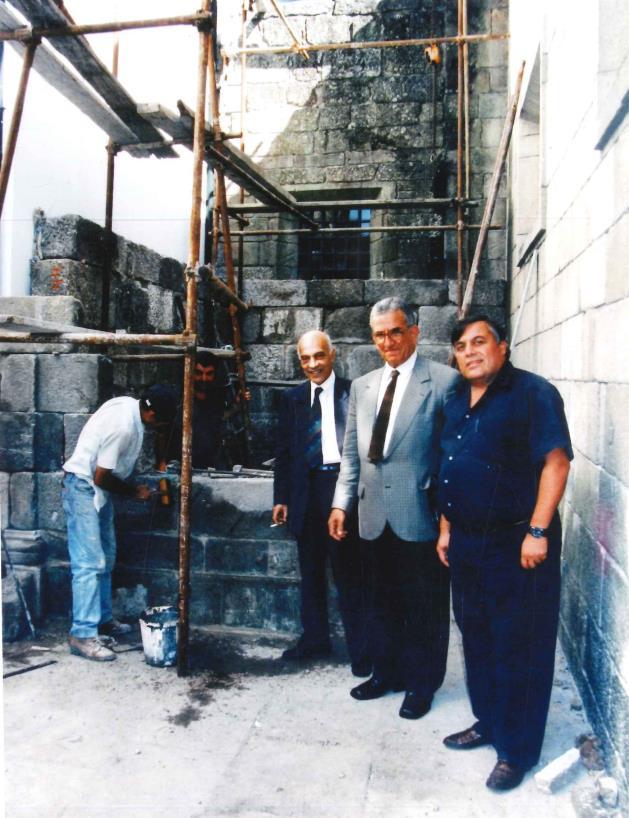
No ano de 1732, o inventário indicava a existência de uma cruz de prata lisa, oito medalhas e três varas também de prata lisa, mas por decreto do governo do General Junot, de 1 de Fevereiro de 1808, foram as Instituições religiosas obrigadas a entregar seus bens em prata, o que aconteceu a 22 de Março do mesmo ano.
A Irmandade possuía uma cruz de latão, mas como esta não era digna para que a Irmandade de S. Nicolau aparecesse em público, a 5 de Dezembro de 1820, por ocasião da eleição anual, assentaram que se faria uma cruz de prata decente pelas sobras do rendimento que se juntarão para esse fim, mas como não havia sobras, só a 26 de Abril de 1822 foi mandada fazer nova cruz, bem como 24 medalhas da melhor prata. Mas eis que surge o restauro da Colegiada de Guimarães, obra feita a gosto de alguém de Lisboa, mas que por cá, pelo que se sabe, a única voz discordante foi a do D. Prior da Colegiada – Monsenhor Araújo
Costa.
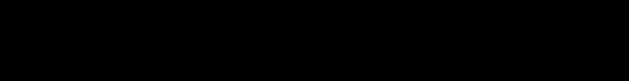
É, em 1970/1971, que a Capela foi destruída e retirada do seu sítio inicial. As suas pedras foram tiradas e colocadas indiscriminadamente no chão do priorado. Foi o Monsenhor Araújo Costa, que por sua autorrecreação mandou numerar as pedras, dando assim uma enorme ajuda na futura reconstrução da dita Capela.
A demolição estava inserida no programa de restauro da Igreja de Nossa Senhora da Oliveira, levada a efeito pela Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais.
Sabia-se já há muitos anos que a Colegiada ia ser intervencionada, mas como e quando era o dilema.
Em 1971, num documento assinado pelo Arquitecto Alberto da Silva Bessa é dito que as obras irão “contribuir para o bom funcionamento dos serviços do templo e restituir a este monumento a definição das várias épocas por que passou durante séculos (…).

Para prosseguir as obras, elaborou-se o processo relativo aos trabalhos de demolição da Capela de S. Nicolau.
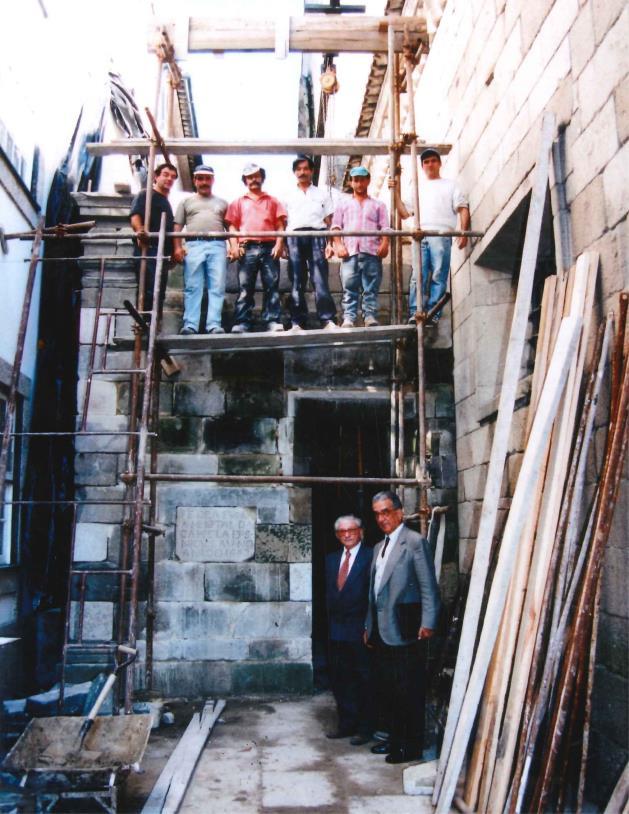
Verifica-se igualmente no boletim da Direcção Geral dos Ediíicios e Monumentos Nacionais, nº 128, que trata exclusivamente da Igreja de Nossa Senhora da Oliveira, onde é incluída a “Relação dos trabalhos efectuados”, a demolição … “das construções adossadas à nave pelo lado norte e sul, da Capela de São Nicolau adossada a colateral norte, do anexo do mesmo lado encostado à capela-mor e trasepto e dos tectos em estuque das naves, transepto e antecâmara”.
A mesa da Irmandade de S. Nicolau nunca foi tida e achada na demolição da sua Capela, mas seus irmãos reunidos em plenário foram dignos do seu nome e mais uma vez mostraram o amor ao seu Santo, fazendo ressurgir a sua Capela em 1998.
A Mesa da Irmandade presidida Pelo Dr. António Emílio de Abreu Ribeiro tomou a seu encargo o ressurgimento da secular Capela, não sendo a sua localização boa, mas não havia outra, pois tinha de se inserir
na área da Colegiada.
A Irmandade de S. Nicolau possui um valioso espólio, quer em livros antigos, bem como em bens de prata, tudo isto à guarda do Museu de Alberto de Sampaio, podendo os mesmos serem admirados nas vitrinas do referido museu.
Muito havia a referir sobre esta Irmandade, mas é repetir o que já se encontra escrito, quer sobre o Santo, a Capela e a Irmandade.
Na parte final deste artigo irão ser inseridas várias fotografias por mim consideradas como úteis para a devida compressão sobre a demolição da Capela.
- Faria, João Lopes de – Velharias Vimaranenses (Biblioteca da Sociedade Martins Sarmento)

Antiga Guimarães – (Editada em 1692) – Porto, 1845.
- Boletim da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, nº 128, Igreja de Nossa Senhora da Oliveira, Guimarães. Lisboa, DGEMN – 1981.
- Carvalho, A.L. – O “S. Nicolau” Tradições académicas de Guimarães, edição do Liceu Martins Sarmento, 1943.
- Santos, Manuela de Alcântara (1994) – Sob o Signo de S. Nicolau, Guimarães, Museu de Alberto Sampaio/ Irmandade de S. Nicolau;
- Silva, Lino Moreira da (1994). São Nicolau: a sua Irmandade e a sua capela na Insigne e Real Colegiada de Guimarães, Associação dos Antigos Estudantes do Liceu de Guimarães.
Imagem 1 – Desenho da Capela de S. Nicolau, extraída do livro “S. Nicolau dos Estudantes, de A. L de Carvalho;
Imagem 2 – Planta da Colegiada, antes das obras, onde se vê a localização da Capela, extraída do Boletim dos Monumentos Nacionais, nº 128;
Fotos 1, 2, 3, 4 – Fotos da colocação das pedras depois de destruída a Capela e da sua reconstrução.
A epigrafia da sineta da Capela de Santa Catarina da Serra, da Penha - Guimarães, denuncia a sua origem medieval, ao que tudo indica, do século XIII.120
Documentalmente, não se sabe ao certo a data da construção da Capela de Santa Catarina da Serra, na montanha da Penha, em Guimarães, mas há quem a atribua a finais do tempo medievo. Há documentação que refere a existência desta ermida no século XVI, anexa ao convento da Costa, sob orientação dos monges de São Jerónimo, que lá colocaram um ermitão para cuidar do culto e de necessidades afins.

Com a instituição, em 1719, de uma confraria formada por leigos, a capela ficou ao cuidado desta entidade, que introduziu algumas reformas tendentes a reabilitar o culto da santa, então em franca decadência. Os documentos mais antigos que consegui consultar reportam-se, precisamente, ao ano de 1719, altura de que datam os Estatutos da Confraria da Milagrosa Sta. Catarina Mártir da Serra, Termo da V. a de G. es. Atualmente, a singela ermida está ao cuidado da Irmandade de N. ª S.ª do Carmo da Penha.

120 Sineta da Capela de Santa Catarina da Serra. Foto do livro “Património Sineiro das Igrejas e Capelas de Guimarães” (ainda não publicado), de autoria de Armindo Cachada.
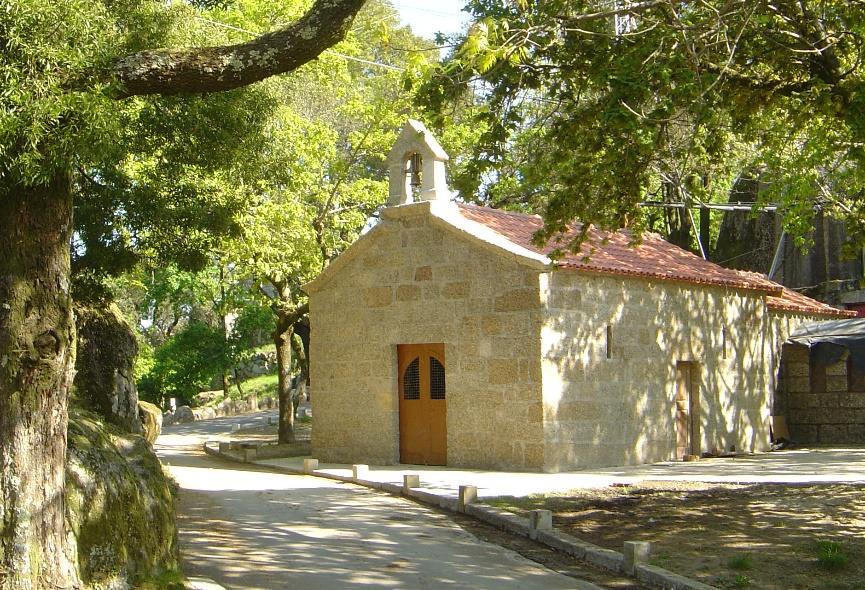
Um dos campanários mais significativos de Guimarães, não tanto pelo elemento construtivo em si, mas pelo valor histórico do sino que a pequena sineira alberga, é o desta Capela de Santa Catarina da Serra.

Bem enquadrado na singeleza da ermida, o campanário possui um pequeno sino que, pela sua raridade, fundição manual, sonoridade, inscrições epigráficas e antiguidade histórica, é uma das peças mais raras, embora menos conhecidas, da multisecular indústria sineira produzida em Portugal e, segundo Alberto Vieira Braga, provavelmente em Guimarães.121
A análise feita à sineta por especialistas leva a situá-la, por comparação com outras de morfologia similar, quer quanto à forma, quer quanto aos elementos epigráficos, na época medieval, em meados do século XIII.
À semelhança de outros sinos desta época medieval tem uma inscrição da cruz; as letras inciais A e M; um pentagrama rústico - um símbolo com origem na estrela salomónica, que representa a boa sorte e proteção mágica e outros elementos igualmente rústicos, como o é também toda a construção manual do sino.

Sendo assim, pode tratar-se de um dos mais antigos sinos em Portugal e, muito provavelmente, o mais antigo sino ainda em uso. Só toca por ocasião da festa de Santa Catarina, e, por precaução, passou a ser guardado no Museu da Irmandade de N. ª S.ª do Carmo da Penha.
Consensualmente, admite-se que os sinos mais antigos em Portugal se reportam ao século XIII, tendo em conta, à falta de um inventário rigoroso do património sineiro em Portugal, a escassa informação de que hoje é possível dispor.
Entre outros, são referenciados pelo arqueólogo Luís Sebastian122 (2008, p. 271) um sino de 1287 na Igreja de São Pedro de Coruche (o sino português datado mais antigo até ao momento conhecido) e um sino de 1292 no antigo mosteiro de Santa Maria de Almoster.
121 Braga, A. V. (1936). As Vozes dos Sinos na Interpretação Popular e a Indústria Sineira em Guimarães. Separata do volume XXXIV da Revista Lusitana, Imprensa Portuguesa, R. Formosa, 108 - Porto.
122Sebastian, L. (2008). Subsídios para a história da fundição sineira em Portugal - Do sino medieval da Igreja de São Pedro de Coruche à atualidade, Museu Municipal de Coruche, cap. VIII.

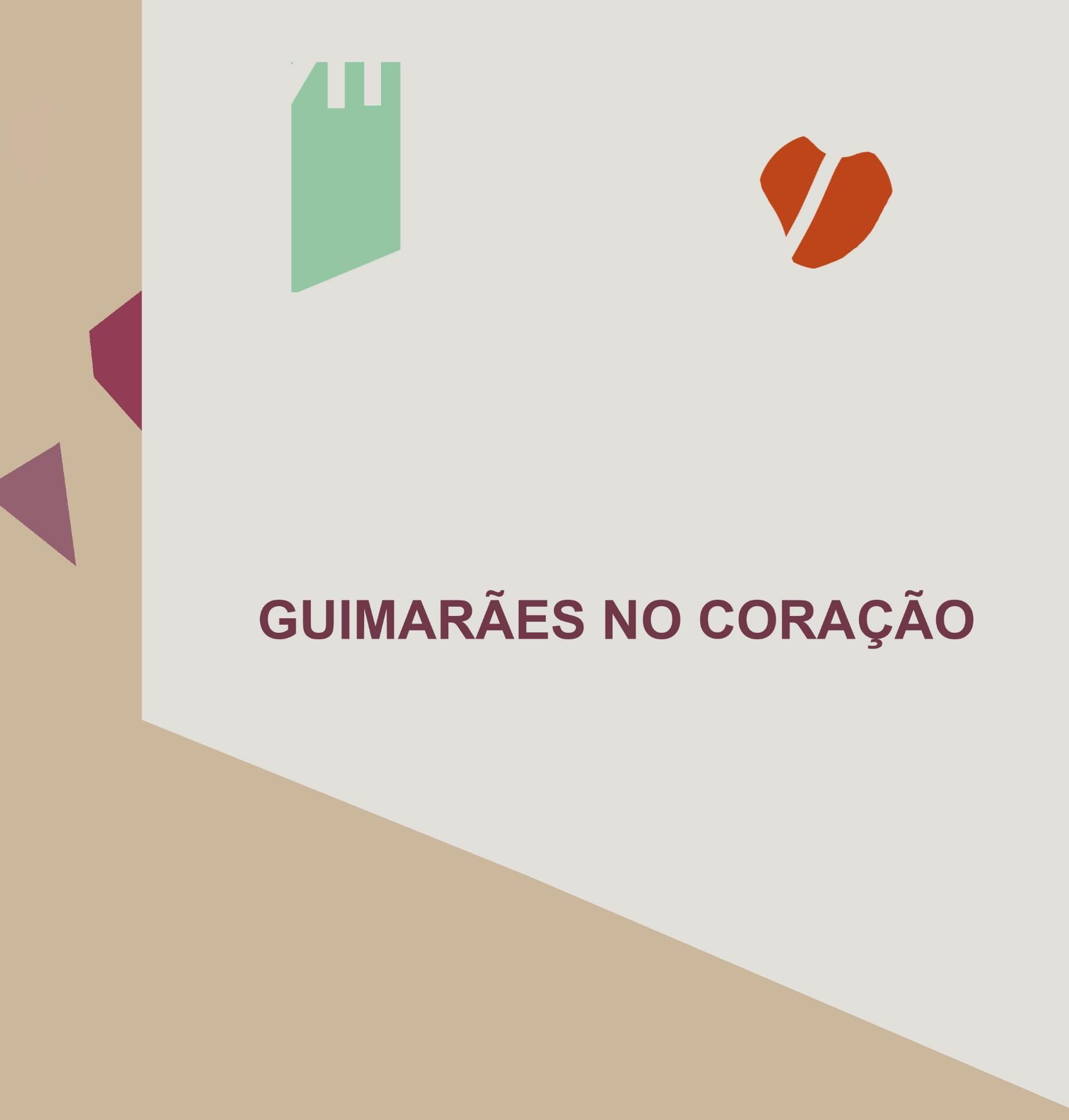
Sentir Guimarães, quer cá nascido e criado, quer cá instalado, é o testemunho deste espaço.
Simples e curtas páginas que claramente refletem aquele senso comum de que Guimarães é boa mãe e boa madrasta…

Há aquela frase célebre de que nós somos dos locais onde nos tratam bem…
Não sou lá muito bom a reter datas, mas recordo que em miúdo por aqui andei, trazido pelos meus pais, calcorreando o que viria a ser, anos mais tarde, património da Humanidade, mas que já era património de Portugal.

É curiosa esta noção de património. Quando pensamos nela, é de casas e igrejas que nos lembramos, só que casas e igrejas há em todos os lados, ou em quase todos, e nem sempre são diferentes. Há, todavia, o património das pessoas, o que sendo absolutamente diferenciador, marca-nos de forma inextinguível para todo o sempre. Como nos tratam, como nos falam, o que nos dizem, de que maneira se comportam. Numa época de cocacolonização, pouco resta que nos diferencie, a não ser (ainda) as gentes e como interagem.
A chegada a Guimarães foi, em momentos mais chegados, uma obrigatoriedade profissional. Poderia ter sido ditada pelo coração, mas não, foi o vil metal que ordenou esta migração. Passado o susto inicial que sempre existe, pois que mudar de armas e bagagens para qualquer lado sempre implica alterações de vida, começa o namoro entre residente e residência. Os sentidos encontram-se todos despertos, à flor da pele, absorvendo tudo ao mais ínfimo pormenor: a casa estreita, a pedra saliente, a janela de guilhotina, o vaso de flores na varanda, o linguajar, o cheiro das laranjas, o paladar da chila, a delícia da farinheira, a força dos cominhos, o toque do bombo. É nesta fase de namoro que tudo é tudo e que nada é isso mesmo, nada. A paixão instala-nos sorrisos e desejos, perdões e desculpas, pois que não há ruela ou árvore, pomba ou melro que nos pareça escuro, irritante, dispensável.
Depois vieram as gentes. O “bom dia” torna-se frase, a frase transforma-se em texto e o texto constrói uma vida. As gentes são francas e sem papas na língua, não se escondem atrás de figuras de estilo literário. Há de tudo como nas farmácias, mas temos sempre a capacidade de escolher entre o genérico e o comprimido de marca. Descobre-se que as gentes são História, pois que das suas mãos se fez e faz o que diferencia o local de outros locais. Bordam-se memórias, cozem-se paladares conventuais, fritam-se encantamentos e gritam-se orgulhos.
A cidade orgulha-se dos seus. Memoriza-os em murais gigantescos, em estátuas de metal, em placas toponímicas e, onde é mais importante, no coração dos que com eles contactam. Porque até mesmo que

seja por um breve instante, aqui marcam-se as pessoas de forma indelével.
Em cada rua há passeios a fazer, pedras a analisar, palavras para ouvir, gestos para apreender. Não registamos nada em máquinas ou nuvens tecnológicas, são desprovidas de cor e tempero, antes gravamos na memória, essa gaveta do nosso corpo onde se preserva o que de mais relevo tem o nosso respirar. Detemo-nos sempre perante qualquer coisa, ou porque ainda não a observámos àquela hora do dia, ou porque nos distraímos com qualquer coisa da primeira vez que por ali passámos. E sempre com o espírito de quem, aqui vivendo, visita pela primeira vez os espaços, renovando o enamoramento abraçado anos atrás.
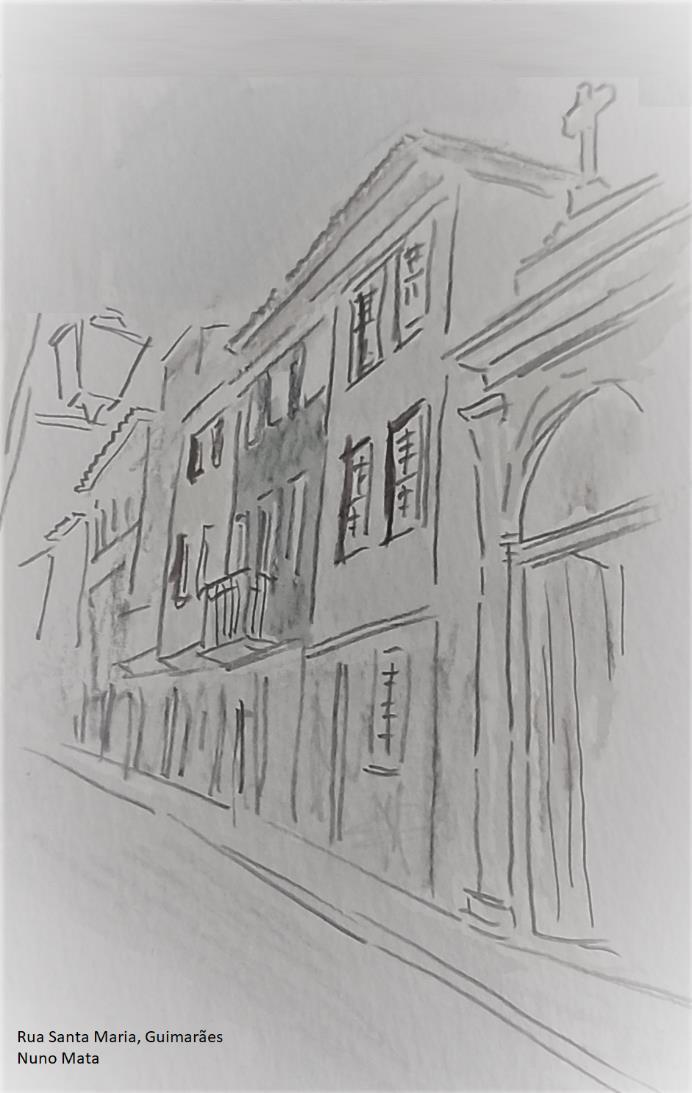
Guimarães é uma cidade como outras cidades. Tem pessoas e o que as pessoas precisam, mas tem mais do que as outras e menos do que nenhuma. Há um apego bairrista único no Mundo que conheço e um orgulho de encher todos os segundos da vida. Uma selfie em Guimarães é uma radiografia feita ao coração, acreditando que os sentimentos são fotografáveis.

Bafejado pela sorte, fui percorrendo as ruas da cidade e nelas encontrando quem hoje faz parte da minha vida, acrescentando conhecimento e emoções. Não foi difícil somar e é impossível subtrair. Não foi aqui o meu berço, mas foi aqui o meu reencontro. Definitivo e feliz.
Há aquela frase célebre de que nós somos dos locais onde nos tratam bem… eu (também) sou de Guimarães.
Relatório de uma Vida - Família Vimaranense no “eixo” Guimarães – Lisboa Bernardino Pina

I
Porquê eixo?
Porque vou falar de mim e da experiência da minha Família entre Guimarães e Lisboa. As pessoas abandonam as suas terras de origem por todo o tipo de razões pessoais, familiares, profissionais, sociais, de sobrevivência e até por razões amorosas, como foi o meu caso.
II

Dois casais de professores lisboetas sem qualquer ligação entre si, em épocas distintas, vieram trabalhar para Guimarães, por pouco tempo, e, curiosamente, estiveram hospedados na mesma casa (Cosme), na mesma rua onde eu nasci (Rua de Stº António). Curiosamente também os dois casais foram pais nesses períodos pelo que os seus filhos são vimaranenses por nascença. Quis o destino que eu fosse encontrar esses dois vimaranenses, como colegas, no Banco Pinto & Sotto Mayor, em Lisboa, onde ingressei em 1967. O Ferreira Leite e o Ribeiro Santos tinham orgulho de terem nascido em Guimarães, mas a sua ligação à sua terra natal terminava aí. De nada se lembram porque, ainda muito pequenos, partiram com os seus pais para novas paragens. Não têm referências, afetos, hábitos que os liguem à sua terra, nem mesmo ao Vitória…nunca cá tinham voltado.
Outro vimaranense e meu amigo que muito novo saiu de Guimarães para Lisboa aí se deslocava apenas em férias quando era menino e não vai à sua terra de nascença há mais de 20 anos…
III
O que me distingue destes vimaranenses foi o facto de permanecer no local de nascimento e no processo de crescimento que vivi até aos 21 anos.
O “aculturamento” regional, e se quiserem bairrista, só se adquire com as vivências do local onde o mesmo se desenrola.
Com o nosso desenvolvimento pessoal, com experiências próprias da meninice, da adolescência e da idade adulta é que vamos descobrindo o que nos rodeia e é a verdadeira semente que vai germinar para a nossa existência.
As casas, as ruas, as pessoas, as instituições, as vozes e suas entoações, a gastronomia são os condimentos para a nossa plena integração à terra onde nascemos.
Depois, veio o Castelo, o Berço da Nacionalidade como a cereja ideal para colocar no bolo da nossa existência.
Estes dados enchem-nos de orgulho e é a génese de “sermos únicos”.

Na minha Família, o Eixo Guimarães-Lisboa é muito forte.
Meu Tio, Manuel Pina, vimaranense, nas suas andanças do serviço militar em Lisboa, casou com uma lisboeta.
Meu Pai Domingos Pina, vimaranense, conheceu, na casa do seu irmão em Lisboa, a minha Mãe lisboeta e com ela veio a casar.
Dois Irmãos de Guimarães casaram com duas primas lisboetas.
Eu vimaranense, nas minhas andanças em casa do meu tio, conheci uma vizinha lisboeta por quem me apaixonei e com quem casei.
Contrariamente ao meu pai, que trouxe a lisboeta para Guimarães, comigo, foi a lisboeta que me fez radicar em Lisboa.
Inversamente, o meu filho mais velho conheceu em Lisboa uma fafense com quem veio a casar.
As pessoas que vivem em Lisboa, quando saem de férias para os locais de nascença…vão para a terra… Eu, quando menino, ia ao contrário…de férias para Lisboa, terra da minha Mãe. De comboio, saía de Guimarães pelas 19H00 de um dia e chegava à estação do Rossio pelas 07H00 do dia seguinte. Toda a noite em bancos de madeira e com transbordo na Trofa e Campanhã…
V
Na minha “genética” há um pouco de lisboeta, mas sou e serei sempre vimaranense. Ainda hoje, depois de deixar de viver em Guimarães há mais de 50 anos, a minha pronúncia ainda é detetada por interlocutores mais atentos: “você é do Norte!”.
Nos primeiros anos de residente em Lisboa só tinha uma fobia. Não conseguir ter férias aquando das
Gualterianas…A muito custo nunca as falhei com mais uns dias de férias na minha terra.
Viagens de carro que duravam 7 a 8 horas. Não havia autoestradas, tínhamos que atravessar várias localidades com os inerentes inconvenientes.
Durante muitos anos só ia a Guimarães uma vez por ano!
Mais tarde, com outras condições de vida, adquiri um apartamento e passei a deslocar-me com maior regularidade.
Para além destas preocupações pessoais com a minha terra, com o mesmo orgulho que digo em todo o lado - SOU DE GUIMARÃES, fui surpreendido por duas Instituições Vimaranenses:
- CAR – Círculo de Arte e Recreio que me nomeou Embaixador em Lisboa do CAR;

- VSC – Vitória Sport Clube que me convidou para Delegado do Clube em Lisboa.
VII Outra “atividade” na qualidade de vimaranense que desenvolvi nos últimos anos foi a de “promover” a minha terra com a deslocação de colegas e amigos residentes em Lisboa ao Berço da Nacionalidade:
- 50 pessoas - Aquando de Guimarães Capital Europeia da Cultura;
- 130 – De ex-militares da Companhia de Caçadores 760 a que pertenci em Angola;
- 2 grupos, em anos diferentes, à Noite do Pinheiro (50 cada);
- Uma visita turística com 40 pessoas.
Nestas visitas, tive a colaboração do CAR, do Prof. Capela Miguel e dos Trovadores do Cano.
A pandemia “reprimiu” as minhas deslocações, mas tenho a mala sempre feita para ir a Guimarães.