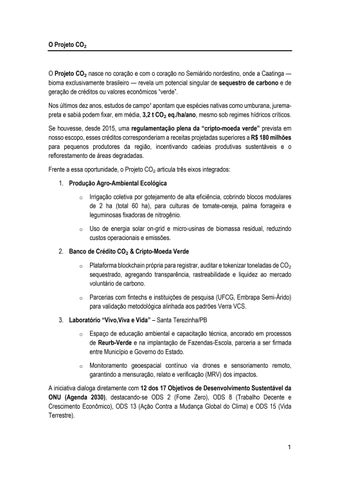OProjetoCO₂
O ProjetoCO₂ nasce no coração e com o coração no Semiárido nordestino, onde a Caatinga — bioma exclusivamente brasileiro — revela um potencial singular de sequestro decarbono e de geração de créditos ou valores econômicos “verde”.
Nosúltimosdezanos,estudosdecampo¹apontamqueespéciesnativascomoumburana,juremapreta e sabiá podem fixar, em média, 3,2tCO₂ eq./ha/ano, mesmo sob regimes hídricos críticos.
Se houvesse, desde 2015, uma regulamentação plena da “cripto-moeda verde” prevista em nossoescopo,essescréditoscorresponderiamareceitasprojetadassuperioresa R$180milhões para pequenos produtores da região, incentivando cadeias produtivas sustentáveis e o reflorestamento de áreas degradadas.
Frente a essa oportunidade, o Projeto CO₂ articula três eixos integrados:
1. ProduçãoAgro-AmbientalEcológica
o Irrigação coletiva por gotejamento de alta eficiência, cobrindo blocos modulares de 2 ha (total 60 ha), para culturas de tomate-cereja, palma forrageira e leguminosas fixadoras de nitrogênio.
o Uso de energia solar on-grid e micro-usinas de biomassa residual, reduzindo custos operacionais e emissões.
2. BancodeCréditoCO₂ &Cripto-MoedaVerde
o Plataformablockchainprópriapararegistrar,auditaretokenizartoneladasdeCO₂ sequestrado, agregando transparência, rastreabilidade e liquidez ao mercado voluntário de carbono.
o Parcerias com fintechs e instituições de pesquisa (UFCG, Embrapa Semi-Árido) para validação metodológica alinhada aos padrões Verra VCS.
3. Laboratório“Vivo,VivaeVida” – Santa Terezinha/PB
o Espaço de educação ambiental e capacitação técnica, ancorado em processos de Reurb-Verde e na implantação de Fazendas-Escola, parceria a ser firmada entre Município e Governo do Estado.
o Monitoramento geoespacial contínuo via drones e sensoriamento remoto, garantindo a mensuração, relato e verificação (MRV) dos impactos.
A iniciativa dialoga diretamente com 12dos17ObjetivosdeDesenvolvimentoSustentávelda ONU (Agenda 2030), destacando-se ODS 2 (Fome Zero), ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico), ODS 13 (Ação Contra a Mudança Global do Clima) e ODS 15 (Vida Terrestre).
Além disso, adota princípios de governança participativa, estimulando cooperativas locais, créditos rotativos e cláusulas de inclusão de gênero e juventude rural.
Com base nesse desenho sistêmico, o Projeto CO₂ pretende transformar passivos ambientais em ativos financeiros, amparando agricultores familiares, atraindo investimentos de impacto e posicionando o Semiárido como referência internacional em bioeconomia de baixo carbono.
Paraalém dagestãodasemissõesrurais,o ProjetoCO₂ assumeamissãoportando de construir caminhosconcretosparaatransformaçãourbanasustentáveldosmunicípiosdoSemiárido nordestino,estabelecendoumarelaçãosinalagmáticadedesenvolvimentoentrecampoecidade, quebrando o ciclo hoje insustentável do êxodo rural, do crescimento desordenado dos centros urbanos.
Oconceito-chaveéintegraremescalaterritorialcontínua(i)práticasindustriaislimpas,(ii)serviços circulares, (iii) comércio de baixo carbono e (iv) cadeias agroecológicas avançadas — incluindo reprodução animal assistida, melhoramento genético de espécies da Caatinga e “bio-upcycling” de resíduos, processos de mudança radical1 na cultura organizacional social dos centros urbanos e rurais de baixo fluxo e uso, cidades com até 10 mil eleitores e menos de 50% de moradores ou residentes efetivos, cidades e extensões rurais subutilizadas portanto com desenvolvimento inspirado no uso de quatro alavancas indispensáveis e iniciais:
1. Governança adaptativa e inclusiva – criação de conselhos locais que conectam sociedade civil, academia e setor produtivo, utilizando dados abertos e orçamento participativo para deliberar metas de mitigação e adaptação;
2. Planejamentourbano-ruralintegrado – corredores verdes que ligam zonas de recarga hídrica, áreas de produção agroecológica e centros urbanos compactos, reduzindo pressão antrópica sobre ecossistemas frágeis;
3. Infraestrutura resiliente e multifuncional – redes de energia solar distribuída, biodigestores comunitários e hubs logísticos para cadeias curtas de valor, elevando a eficiência no uso de recursos;
4. Colaboração e aprendizagem em rede – adesão a plataformas globais como ICLEI e UN-Habitat, favorecendo a troca de boas práticas com cidades-laboratório (Estocolmo, Melbourne, Lima) e reforçando a vocação de Santa Terezinha/PB como living lab semiárido.
A adoção desses eixos viabiliza a unificação do direito à sustentabilidade ambiental, comercial e humana como política pública constitucionalmente protegida, convertendo metas climáticas em obrigações de Estado, passíveis de controle social e judicial.
1 Urban Transformation” do curso Greening the Economy: Sustainable Cities, ministrado pelo Dr. Kes McCormick (IIIEE/Lund University) _ https://portal.research.lu.se/files/77824048/McCormick_et_al._2013.pdf
Assim, o Projeto CO₂ posiciona-se como catalisador de mudanças estruturais — desde a matriz energéticaatéotecidosocial — respondendoàspressõesclimáticas,econômicasedemográficas que já se impõem às cidades do Semiárido.
Os princípios de transformação a serem tratados e apresentados neste projeto alinham-se aos conceitosemotivosdefesospeloDr.KesMcCormick,emestudostratadosem Módulo1–“Urban Transformation” do curso Greening the Economy: Sustainable Cities, ministrado pelo Dr. Kes McCormick (IIIEE/Lund University), que enfatiza a necessidade de visões sistêmicas, experimentação urbana e governança multinível para acelerar a sustentabilidade nas cidades.
A seca
A imagem2 ao lado ilustra uma ideia do que representa o bioma da Caatinga - localizado predominantemente no nordeste do Brasil –no território nacional, presente nos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, e também ao norte de Minas Gerais, um bioma exclusivamente brasileiro.

Compreender a Caatinga exige mais do que analisar as característicasclimáticas.Indispensável conhecer,saber,querer entender,o povoea sua relação com a Caatinga.
Osdesafios climáticosenfrentados pelo biomaque desenha aimagemdo semiáridobrasileirosão descritosempesquisasacadêmicas,históriasdefamíliaeobrasda literaturanacionalcomvalores sociais, ainda mais destacados do que os aspectos ambientais.
A importância que se vê nas obras é dadaao povo, não à sua condição humana, mas, a sua frágil ação de realizar “escolhas”. Na obra “A Bagaceira” o autor paraibano José Américo de Almeida faz uso de uma linguagem ou escrita quase bíblica que destaca a ausência de personalização do humano, são “um coletivo”, indistintos, não humanos, são anônimos, são povo, são ninguém, sendo tudo isso um sentimento, suportado por muitos, aceito pela maioria do povo nordestino, pela maior parte dos sertanejos, como se nascidos e criados em local infértil e seco, assim deve ser também sua esperança, casa, sua mesa, sua alma. Esse sentimento secular mantém viva e próspera a indústria da seca, mantida mesmo após a democratização do acesso às informações, ao conhecimento, por meio das redes sociais, um eco ainda do fenômeno conceituado por Victor Nunes Leal como “coronelismo,enxadaevoto”
“Era o êxodo da seca de 1898. Uma ressurreição de cemitérios antigos — esqueletos redivivos…
2 https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEha3M3ydsqVDVMFSmE3663YjXcF0 fwNT7bfKHiFRsigG7HNWDT7xRDWgoSTmSZVqlR_5rjQhHabCl9IrvkU55D6UdRNEkr475vFECsoHlaQHqpTOfi2qs_vs7tw8DXndaYKn2B5hIut4/s400/CAATINGA.jpg
…Nãotinhamsexo,nemidade, nemcondição nenhuma.Eramos retirantes. Nada mais.”
— Cap. 2, p. 39 da 11ª ed., Rio de Janeiro, José Olympio, 1988 (1ª ed. 1928).
Euclides da Cunhas, escritor nacional, descreveu a seca como uma “força geológica e histórica”, responsável por degradar o solo, impor a imigração e engendrar o “martírio secular da terra”. As condições ambientais foram descritas na obra “Os Sertões” com a emoção necessária para vincular diretamente seus efeitos à servidão inconsciente do sertanejo, fragilizado pela temperatura, pela “quentura”, pela falta de calor humano, condição que fez deste povo escravo servo de seu pão, perseguido a cada dia. O sertanejo seria um povo sem direito de escolha.
“Varada a estreita faixa de cerrados, … entra-seoutraveznosareais exsicados.(…)
(...) oqueestasdenunciam–noenterroadodochão,nodesmantelodos cerros quase desnudos…
… Dissociam-na nos verões queimosos; degradam-na nos invernos torrenciais.”
(Parte I, cap. IV “As Secas”, p. 18-20 da ed. da Biblioteca Básica
Na obra “O Quinze” a imortal Rachel de Queiroz traz na fala de Chico a revolta e o desapego à esperança, revelando a revolta contra a miséria, falta de mobilidade, transporte, acesso, oportunidade, efeitos diretos da estiagem, da falta de produção, ausência de meios ou recursos, realidadeaindapresentenavidadetantos,aindanosdiasatuais.Anarrativatrazosertanejocomo um povo desamparado até pelo Criador. Transcrevem-se:
“— Desgraçado!…ogovernoajudaospobres…Nãoajuda nema morrer!
O preposto é que é um ratuíno… anda vendendo as passagens a quem der mais…
Nestadesgraçaqueméquearranjanada!Deussónasceupros ricos!” — Cap. 6, p. 75-77 da 82ª ed., Rio de Janeiro, José Olympio, 2018 (1ª ed. 1930).
Em Vidas Secas Graciliano Ramos logo no início da obra apresenta a exaustão, a fome, a paisagem seca, árida, pálida como cenário para contar a história de “Fabiano”, enfraquecido e esquecido pelo próprio Estado. Segue:
“Na planície avermelhada os juazeiros alargavam duas manchas verdes.
Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos.”
— Cap. 1 “Mudança”, p. 9 da ed. crítica Record, Rio de Janeiro, 2013 (1ª ed. 1938).
As obras literárias citadas revelam, cada uma à sua maneira, que a seca não é portanto só um fenômeno natural: é matriz de desigualdades que mantém fértil - paradoxalmente - o campo
político com a lágrima do retirante, do sobrevivente, convertendo necessidades básicas em fichas de negociação eleitoral ou de poder social.
Há uma transferência onerosa e espontânea do poder das mãos do povo para a de poucos, anos após ano, seca após seca.
A literaturai ao expor essa engrenagem cumpriu o papel de buscar a construção de uma consciência crítica e memorial histórica — argumento poderoso para, hoje, defender na arena internacional (ONU) maior efetividade e eficiência das políticas de mitigação, inclusão cidadã e investimentos que quebrem o ciclo da “indústria da seca”, recuperem e valorizem o bioma caatinga, e, finalmente traga ao sertão, ao sertanejo, à caatinga e ao semiárido nordestino Brasileiro a importância de algo que deveria ser concebido e tratado como patrimônio mundial da humanidade.
A Caatinga, priorize
Ao abrigo do Artigo 225 da Constituição Federal brasileira, que erige o meio ambiente ecologicamente equilibrado em direito fundamental, com base nos compromissos cogentes da Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação (1994), da Convenção sobre DiversidadeBiológica(1992) edo AcordodeParis(2015,Art.2-c),defende-sea conclamação da Caatinga como Regiãodefronteiraderesiliênciaclimática(RFC), conceitodeplanejamento que identifica faixas geográficas onde a pressão climática chega ao limiar da capacidade atualdeadaptaçãodeecossistemasesociedades portanto.
Nessas áreas, qualquer incremento adicional de calor, seca, cheia ou salinização pode empurrar o sistema para outro “estado” – ou seja, trata-se de uma “zona-tampão” crítica entre a resiliênciaqueaindaexisteeocolapsofuncional.
Por estarem “no limite”, as RFC devem ser priorizadas para investimentos em adaptação transformativa, governança integrada e inovação tecnológica.
Se apenas 20 % deste bioma sobrevivesse, como alguns cenários projetam, perderíamos um sumidouro anual de até 110 Mt CO₂-e – cifra suficiente para comprometer as metas de clima mundiais de 1,5 °C.
A desertificação converteria vastas áreas em solos inférteis, acelerando migrações e agravando ainda mais a instabilidade socio-econômica no Atlântico Sul. Os danos ambientais suportados e vividosdiretamentepelosocupantesdosemiáridobrasileiroseriamigualmentesentidosemoutras regiões, biomas, cidades e nações.
Necessário e urgente uma atuação concomitante e una, direcionada, planejada, focada não apenas nos resultados climáticos. A mudança é cultural, o amadurecimento é moral, a sobrevivência é física mas a vitória é ganho imaterial, razão que há uma necessidade de investimentos de valores éticos, morais, materiais, financeiros, técnicos e culturais, sendo esses os motivos que fundamentam proposta de criação de fundo MultilateralCaatinga-2035, alinhado ao GreenClimateFund eao GlobalMechanism–UNCCD,paramobilizar US$2bi emconcessões
e US$ 5 bi em garantias de crédito, investimento com retorno via hottspot endêmico, garantido com ageraçãode 1 milhão de empregos verdes, mitigaçãode emissõesavaliadas atualmente em US$ 14 bi no mercado voluntário de carbono até 2050, o que será demonstrado e ratificado por estudotécnicoespecíficoemprojeto assessório,comomeioe ferramenta paradefinição demetas e caminhos.
A desertificação não conhece fronteiras, o pacto ambiental firmado entre nações — por tratados que têm força de lei — tampouco conhece limites à ato de esperançar, recuperar, restaurar, prosperar. Financiar a Caatinga é investir na segurança hídrica, alimentar e climática mundial, é recuperar não apenas o meio ambiente, mas, conhecer o bioma de fato, sendo esse o exercício de um direito ao final. Se a caatinga não mais existisse, hoje, certamente as metas ambientais quanto à temperatura do planeta já não seria possíveis de ser pensadas ou perseguidas sendo essa a exata equação a ser formada e enfrentada neste projeto, considerando o nada, considerando a pergunta “e se não estivéssemos mais aqui?”
O que já foi pensado ou feito nos últimos 70 anos, segundo DNOCS (1950-58)3, em Projeto Sertanejo (1974), Decreto 750/1993 , PAN-Brasil (2004), P1MC (2003) e PPCaatinga pode ser observado na Tabela abaixo, que organiza as ações de governo e estudos conforme a linha do tempo:
Período Publicações & Achados Científicos
Investimentos Governamentais (Gestor/Local)
– Séries de boletins do DNOCSsobre hidrologiae solosáridos
19501959
– Relatórios do Grupode Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN,1958)
Expansão de açudes comoo Açude ArarasCE (DNOCS,1951-58)–Pres. Getúlio Vargas & JuscelinoKubitschek
Problemas Diagnosticados
Soluções/Programas Piloto
Secacíclica,faltade reservatórios,sobrepastoreio
Obras de açudagem, incentivosàirrigação periaçude
19601969
19701979
– Manuais técnicos da SUDENE sobre pequenos açudes (1963) – Estudos pioneirosemfitossociologia naUFC
– Fundação da Embrapa CPATSA (1974)comsérie PesquisaemCaatinga
– Projeto Sertanejo (DNOCS/Embrapa,1974-80)
Criação da SUDENE (1959)–CelsoFurtado; polos de agro-indústria emPE/BA
Avançodecortede lenha para energia, expansãocaprina
Programas de crédito nordestino, início da extensãorural
Recursos FUNAI-Banco do Nordeste para irrigação experimental emPetrolina(PE)
Salinizaçãoemlotes irrigados, perda de matériaorgânica
Difusão de gotejamento, manejo de caprinos semiconfinados
3 https://www.gov.br/dnocs/pt-br/assuntos/nossas-historias/acude-araras-um-marco-naacudagem-do-dnocs?
Período Publicações & Achados Científicos
Investimentos Governamentais (Gestor/Local)
– Inventários florísticos regionais(IBDF1981-85)
Política Nacional de Irrigação (1986)
Problemas Diagnosticados
Soluções/Programas Piloto
19801989
19901999
–Primeirassériesdedados climáticos longos do Semiárido
– Min. Irrigação; implantação de perímetrosemBA/SE
– Decreto 750/1993 (instrumento-modelo de proteção vegetal) – Brasil ratifica UNCCD (1997)
Programa Semi-Árido (PSA) – MMA/DNOCS; início dos Planos DiretoresdeBacia
Desertificação incipienteemSeridó & Irauçuba; lenha paracerâmica
Criação de Áreas de Proteção Ambiental estaduais;fomentoafogões eficientes
Aumento do desmatamento para carvão, avanço da pecuáriaextensiva
Primeiras Unidades de Conservação de Caatinga (ESEC Aiuaba-CE, 1990; PNCatimbau-PE,1998)
20002009
20102019
–Lei9.985/2000(SNUC)–Reserva da Biosfera da Caatinga –UNESCO(2001) – Relatório PAN-Brasil de Combate à Desertificação (2004)
– PPCaatinga (2014) –Estudos de mudança climáticaprojetamperdade 40%dabiodiversidadeaté 2060
P1MC – Um Milhão de Cisternas (ASA/MDA, 2003)
Insegurança hídrica domiciliar, êxodo rural Cisternas de placa, reflorestamentocomunitário, fundosrotativos
20202025
–Lei14.119/2021(PNPSA)
– Decreto 11.367/2023 relança PPCaatinga2030
Caatinga,oLar
Metas de Land Degradation Neutrality (MMA,2017)
FundoClima+Bancodo Nordeste para microcrédito verde; projetos“CaatingaViva” emPI/BA
Intensificação do sobre-pastoreio, climamaisquentee seco
Pagamentos por Serviços Ambientaispiloto,redesde pesquisaLTER/PELDnoPN Catimbau
13 % do solo já estéril; eventos de calorrecorde
Restauração florestal 4 milhõesha,agroflorestasde umbu-sisal, créditos de carbonovoluntários
Há uma relação cíclica que impulsiona o esgotamento da sobrevivência do bioma enquanto ao mesmotempoomantémcomosobrevivente.Algunsdenominamestefenômenofísico-socialcomo adaptação.
A ausência de recursos financeiros e naturais são fatores agravados pela falta de investimentos em educação, emações de valorização regional, cultural, ambiental. Hoje a safraem mãos é fruto da total ausência de ocupação ou preocupação do Estado ou da sociedade civil quanto ao meio ambiente natural e artificial.
A prática de sobre-pastoreio bovino/caprino, conversão de pastagens em lenha ou carvão, irrigação sem manejo salino, são algumas das causas estruturais motivadoras da desertificação do sertão nordestino brasileiro em iminente consolidação.
Como observado anteriormente antes de 1974 sequer haviam pesquisas sobre o bioma e seus fenômenos, sendo efetivas ações positivas e minimamente planejadas em prol da caatinga uma realidade recente, uma novidade ainda a ser vivenciada na prática.
Há uma flagrante e incontroversa urgência em serem implantadas medidas voltadas ao escalonamento da restauração do bioma em >4 M ha sob metas de NeutralidadedeDegradação do Solo (UNCCD Art. 2), o que exige o ato de financiar agroflorestas e CSA’s via PNPSA (Lei 14.119/2021 Art.3 II), alémde internalizar custos da emissão de carbono negro do carvão vegetal nosmercadosdePSA, sendonecessárioaindaainstalaçãodeobservatóriosdeDadosClimáticos com séries homogêneas para modelagem hídrica específica e personalizada, pensada a cada microrregião do bioma a ser cuidada, zelada, otimizada.
É nesse cenário o convite à sociedade para participar dos debates, estudos e fóruns, locais e não apenasacadêmicos se tornam uma realidade urgente e necessária. É preciso popularizar as boas práticas ambientais, aproximando o cidadão de seu solo, agregando valor patriótico à caatinga, patrimônio da humanidade, preservado sob sol, custeada por anos pelo subdesenvolvimento da região mais pobre do Brasil.
Construir caminhos suficientes e sólidos para provocar uma releitura ao cenário do semiárido brasileiro não é um projeto de político, é política pública que deve ser realizada com menos esforços isolados e mais participação popular, social, acadêmica e política, nacional e internacional.
A recuperação eoreflorestamentode áreaspelacaatinga émeiode desenvolvimentocom efeitos transversais, agregando valores às cidades, às comunidades, empresas e regiões. As atividades pensadas inicialmente neste projeto tem como missão incentivar e fomentar atividades de empreendedorismo e Geração de Renda, através da capacitação e qualificação da mão de obra local por meio de parcerias, priorizando a oferta de treinamento e capacitação para o desenvolvimento de habilidades que possam ser aplicadas em diversos setores, ampliando as oportunidades de empregabilidade e geração de renda.
As atividades de produção serão apoiadas e contarão com o suporte de investidores e rede de apoio comercial, um agente de divulgação de produções, com o olhar sobre critérios de controle de qualidade, uma espécie de mercado livre do agronegócio ecológico, familiar, de baixa e média produção, sem atravessadores, em balcão de negócios público, com foco em um comércio possível, justo, sustentável e com oportunidades para todos. Não deve haver corrida ou concorrência interna local, mas, uma unidade na cadeia de produção e geração de renda e empregos na cidade apoiadora o projeto.
São ainda ganhos indiretos do projeto CO2, enquanto se investe em preservação ambiental:
a) Beneficiar grupos produtivos locais para aprimorar a vocação do território, valorizando os serviços ofertados;
b) Empoderar mulheres, jovens, pessoas negras, indígenas e outros grupos minorizados através do incentivo ao protagonismo, contribuindo para a independência financeira;
c) Fomentar a inovação e a geração de Economia Circular.
d) Desenvolver ações de educação, em escolas locais, pautadas na promoção da educação de qualidade e justa;
e) Fomentar a inclusão digital e o acesso a tecnologias;
f) Oferecer treinamento e capacitação, desenvolvendo habilidades educacionais que possam ser aplicadas em diversos setores;
g) Aplicar metodologias inovadoras no desenvolvimento educacional;
h) Estimular desenvolvimento de habilidades físicas e motoras, estimulando a socialização e o senso de cooperação.
i) Promover engajamento da comunidade local em programas de conscientização sobre meio ambiente;
j) Desenvolver programas de gestão de resíduos, incluindo a reciclagem e a compostagem, para reduzir o impacto ambiental;
k) Promover práticas agrícolas sustentáveis, como a agricultura orgânica, a agrofloresta e a produção de alimentos locais, além de fomentar a produção sustentável, agroecologia, cooperativismo e o acesso a mercados para pequenos produtores rurais.
l) Desenvolver ações de conservação da água, como a reabilitação de nascentes e a promoção do uso responsável dos recursos hídricos;
m) Estimular o desenvolvimento do turismo sustentável, destacando as belezas naturais e culturais da região e criando oportunidades econômicas.
n) Valorizar aculturaregional,tradiçõespopulares,musicalidadeeexpressãocorporal,artes digitais, cinematográficas e patrimônio cultural;
o) Valorizar a identidade e cultura negra, incluindo ações de combate ao racismo e demais desigualdades;
p) Promover a inclusão de mulheres, pessoas que se identifiquem como LGBTQIA+, pessoas com deficiências ou integrantes de comunidades tradicionais (indígena, quilombolas, caiçaras e ribeirinhas), apoiando projetos que estimulem o respeito à individualidade e à diversidade;
q) Oferecer acesso às atividades culturais, criando oportunidades de aprendizado por meio da arte e da cultura;
r) Criarredescolaborativasqueproporcionematrocade conhecimentos,potencializandoas iniciativas comunitárias.
s) Promover a prática regular de atividades físicas;
t) Oferecer treinamento esportivo como prática educacional, atuando na mitigação da evasão escolar e exclusão social;
u) Apoiar a saúde mental e emocional;
v) Oferecer atividades que proporcionem momentos de lazer;
w) Oferecer treinamentos intensivos, competições e apoio a federações.
x) Ampliar a capacidade dos serviços de saúde e/ou promover a melhoria dos recursos;
y) Implementar programas de saúde preventiva e de acesso a serviços de saúde para comunidades locais, melhorando o bem-estar geral;
z) Promover a habilitação e reabilitação, diagnóstico precoce e inclusão de pessoas com deficiência,pacientesoncológicoseemcuidadospaliativos,garantindomelhortratamento e qualidade de vida;
aa) Oferecer formação de profissionais para o atendimento de pessoas com deficiência e pacientes oncológicos;
bb) Promover pesquisas voltadas para prevenção e diagnóstico de doenças e deficiências.
Os objetivos acima enumerados estão presentes em ordenamento jurídico nacional como prioridades, e, já recebem atenção legislativa quanto a criação de fonte de financiamento sendo possível mencionar de imediato: FIA – Fundo para Infância e Adolescência; Fundo do Idoso; Lei do Audiovisual; Lei Federal do Esporte; Lei Rouanet; PRONAS/PCD; PRONON e outras,
O Plano de Divulgação do Bioma Caatinga, elaborado pelo Ministério do Meio Ambienteem 2011, teve como objetivo principal orientar ações de comunicação para promover a valorização e conservação da caatinga, o único bioma exclusivamente brasileiro.
Com uma área de 844 mil km², abrangendo 11% do território nacional e partes de 10 estados, a caatinga é rica em biodiversidade e endemismos, mas enfrenta desafios como desmatamento, degradação ambiental e falta de proteção adequada.
Apenas 8,4% de sua área está coberta por unidades de conservação federais, sendo menos de 1,5% de proteção integral.
O plano destacou a importância de conscientizar apopulação sobrea relevânciada caatinga para o desenvolvimento sustentável da região Nordeste e a melhoria da qualidade de vida de cerca de 28 milhões de pessoas que dependem de seus recursos naturais.
Além disso, busca desfazer mitos sobre o bioma, estimular pesquisas sobre seu potencial socioeconômicoe promover suainclusãoempolíticas públicase estratégiasde desenvolvimento.
A estratégia de comunicação proposta incluiu ações voltadas para diferentes públicos, como governo, imprensa, parceiros (artistas, empresas, ONGs), profissionais de comunicação e o Congresso Nacional.
Entre as iniciativas estão a produção de materiais audiovisuais, documentários, cartilhas, campanhas de conscientização e parcerias com entidades e meios de comunicação. O plano também enfatiza o papel do Conselho Nacional da Reserva da Biosfera na mobilização da sociedade e na criação de uma rede de comunicação para divulgar estudos e práticas de conservação.
O estudo oficial foi utilizado como base para a formulação de estratégias de comunicação e políticas públicas voltadas para a conservação da caatinga. Ele foi citado em discussões sobre biodiversidade, sustentabilidade e desenvolvimento regional, servindo como referência para pesquisadores, gestores ambientais e formuladores de políticas.
Sua importânciaacadêmicareside nacontribuiçãoparaoentendimentodascaracterísticasúnicas da caatinga, seus desafios e potencialidades, além de fornecer subsídios para estudos sobre comunicação ambiental, conservação de biomas e desenvolvimento sustentável, assunto não muito explorado ou enfrentado até então como destacado anteriormente.
Parece contraditório, na verdade de fato é uma grosseira contradição ser a caatinga brasileira um achado exclusivo nacional, cuja preservação e conhecimento representaria melhor qualidade de
vida a mais de 28 milhões de pessoas, a maior parte sobreviventes em meio à pobreza e miséria sócio-econômica, um bioma rico em biodiversidade, menos conhecido e desprotegido por unidades de conservação.
ObjetivosdoProjetoCO2,Caatinga
ampliar áreas cobertas por unidades de conservação no bioma;
contribuir para a definição de políticas estratégicas para a conservação e uso sustentável da caatinga;
contribuir para o desenvolvimento de marcos legais para a conservação do bioma;
contribuir para o aumento da área coberta por unidades de conservação no bioma;
contribuir para a melhoria da implementação das unidades de conservação do bioma;
contribuir para o monitoramento adequado do desmatamento na caatinga;
contribuir para promover o uso sustentável da biodiversidade da caatinga:
CaatingaBrasileira,patrimôniodaHumanidade
A Caatingaé oúnicobioma exclusivamentebrasileiro,cobrindo cercade 844milkm² (aprox.11% do território nacional) no Nordeste do Brasil.
Apesar do clima semiárido e das secas prolongadas, o bioma abriga uma notável biodiversidade adaptada à condições climáticas consideradas extremas, difíceis. Estudos recentes registram mais de 6,3 mil espécies de flora e fungos na Caatinga, das quais cerca de 2,7 mil (aprox. 43%) são endêmicas – ou seja, ocorrem somente ali. Em termos de flora vascular (plantas superiores), levantamentos apontam ~3.346 espécies de plantas sendo 526 endêmicasexclusivas do bioma – como destacado.
Essa alta taxa de endemismo (aprox. 33% da flora) evidencia a singularidade do patrimônio biológico da Caatinga.
No conjuntoda fauna, jáforam identificados 178espéciesdemamíferos, 591aves, 177répteis, 79anfíbios e 241peixes de água doce no bioma, além de uma grande diversidade de insetos e outros invertebrados, como 221 espécies de abelhas nativas registradas, essas fundamentais para a polinização.
Cerca de 15% da fauna da Caatinga é considerada endêmica (espécies que não existem em nenhum outro lugar). Essa riqueza endêmica inclui espéciesemblemáticas como o soldadinhodo-araripe (Antilophia bokermanni), pequena ave restrita a uma única área no Ceará, e o primata guigó-da-caatinga (Callicebus barbarabrownae), encontrado apenas em fragmentos florestais do bioma.
EssadiversidaderefutaaideiaantigadequeaCaatingaseria“pobre”emespécies.Pelocontrário, 33% davegetaçãoe15%dosanimaisdaCaatinganãoexistememnenhumoutrolugar do planeta, ressaltando a importância global deste bioma. Entre as plantas características estão árvores earbustosadaptados àseca,comooumbuzeiro(Spondiastuberosa),aaroeira-do-sertão
(Myracrodruon urundeuva) e cactáceas como o mandacaru (Cereus jamacaru). A fauna inclui desde mamíferos de pequeno porte (roedores, marsupiais e morcegos, majoritários na região) até aves icônicas como a asa-branca (Patagioenas picazuro) e a arara-azul-de-lear (Anodorhynchus leari), além de répteis e anfíbios altamente especializados (lagartos, camaleões, sapos que estivationam durante a seca, etc.).
Em suma, a Caatinga configura-se como um repositório único de formas de vida adaptadas ao semiárido, cujoinventáriocientíficovem crescendoàmedidaquenovasexpediçõeseestudossão realizados.
DistribuiçãoGeográficadasespéciesnoBiomaCaatinga
De maneira geral, muitas espécies da Caatinga apresentam distribuiçõesgeográficasrestritas dentro do bioma, refleto da heterogeneidade ambiental. Por exemplo, o soldadinho-do-araripe (pequeno pássaro) só é encontrado na Chapada do Araripe (CE) – uma única encosta úmida –enquantoa arara-azul-de-lear selimitaarochedoscalcáriosdonortedaBahia(RasodaCatarina).
Já espécies de ampla distribuição, como o tatu-peba (Euphractus sexcinctus) ou a jurema-preta (Mimosa tenuiflora), ocorrem em praticamente toda a Caatinga. Essa variação espacial implica que a preservação de múltiplas áreas é necessária para capturar toda a diversidade biológica do bioma. Infelizmente, quase metade (aprox.46%)da vegetaçãooriginal daCaatinga já foi desmatada, e o que resta encontra-se fragmentado, o que afeta a distribuição natural das espécies.
Em certos estados, a situação é crítica – e.g. Alagoas já perdeu grande parte de suas áreas originais, restando ~10,7 mil km² dos 13 mil km² originais de Caatinga (cerca de 82% remanescente), enquanto Bahia e Ceará concentraram mais da metade do desmatamento histórico.
Assim, adistribuiçãoatualdasespéciesrefletenãoapenasfatoresecológicos,mastambém o impacto humano, com muitas populações isoladas em “ilhas” de habitat rodeadas por áreas degradadas.
Apesar da elevada biodiversidade, a Caatinga é o bioma brasileiro menosprotegidoeestudado proporcionalmente.
Apenas 8,4%daárea estácoberta por unidadesde conservação, e menosde 1,5% éde proteção integral (parques, reservas). Essa lacuna de proteção se reflete no status de conservação das espécies: muitas encontram-se ameaçadas de extinção devido à perda de habitat, caça e outras pressões.
Segundo dados compilados pelo Ministério do Meio Ambiente e pesquisadores, foram listadas 43 espécies da fauna e 46 da flora da Caatinga como ameaçadas em listas oficiais (categorias Vulnerável, Em Perigo ou Criticamente Em Perigo).
Diversas espécies já foram extintas na natureza ou enfrentam risco crítico. Por exemplo, a ararinha-azul (Cyanopsitta spixii), uma pequena arara da Caatinga, foi declarada extinta na natureza (desde 2000 só sobrevive em cativeiro).
Outras espécies emblemáticas em perigo incluem:
Arara-azul-de-lear (Anodorhynchusleari) –Papagaio degrande porte restritoao norte da Bahia; EmPerigo(EN) na Lista IUCN.
Soldadinho-do-araripe (Antilophiabokermanni) – Ave endêmica da Chapada do Araripe (CE); CriticamenteEmPerigo(CR) devido à distribuição extremamente limitada.
Tatu-bola (Tolypeutes tricinctus) – Tatu endêmico do Nordeste, escolhido símbolo da Copa de 2014; Vulnerável(VU) na IUCN, com declínio populacional pela caça e perda de habitat.
Onça-parda (Puma concolor) – Grande felino presente na Caatinga; globalmente Não Ameaçada, porém regionalmente ameaçada pela rarefação de presas e fragmentação. Entra como espécie indicadora de ecossistemas saudáveis.
Aroeira-do-sertão (Myracrodruon urundeuva) – Árvore lenhosa altamente explorada (madeira e medicina); listada como Vulnerável nacionalmente.
Baraúna (Schinopsis brasiliensis) – Árvore típica da Caatinga, também explorada; Vulnerável em listas nacionais.
Xiquexique (Pilosocereusgounellei) e mandacaru (Cereusjamacaru) – Cactos icônicos; sofrem com coleta ilegal e foram incluídos como quase ameaçados, exigindo monitoramento.
Peixes reofílicos (ex.: tanajura, barrigudinho-do-São-Francisco) – muitas espécies endêmicas de rios temporários enfrentam risco pela degradação de cursos d’água.
De acordo com avaliações da Fundação Biodiversitas e do ICMBio, 19 espécies de plantas da Caatinga já constavam como ameaçadas desde o início dos anos 2000, incluindo as citadas aroeira e baraúna, que são pilares ecológicos do sertão (árvores-chave na alimentação e abrigo da fauna).
Na fauna, um levantamento mais recente (ICMBio, 2018) indicou pelomenos26vertebradosda Caatingaemperigo (dentre eles, 3 anfíbios, 6 répteis, 7 aves e 10 mamíferos) e várias espécies extintasregionalmente. Por exemplo, grandes mamíferos como a onça-pintada (Pantheraonca) e a arara-vermelha (Ara macao) já não ocorrem mais na Caatinga, vítimas da perda de habitat e perseguição humana.
O tatu-bola-da-caatinga (espécie endêmica) tornou-se símbolo dos esforços de conservação após estudos indicarem seu declínio acentuado – atualmente figura como uma das 25 espécies de mamíferos mais ameaçadas do mundo.
Importante salientar que muitas espécies da Caatinga ainda são pouco conhecidas cientificamente, o que dificulta avaliar seu estado de conservação. A insuficiência de estudos faz com que possamos estar subestimando o número de espécies em risco.
Por isso, especialistas apontam a necessidade de pesquisas contínuas e da criação de novas unidadesdeconservaçãonobioma.Hoje,aCaatinga nãopossuiproteçãoconstitucionalcomo patrimônionacional (ao contrário da Amazônia e Mata Atlântica) – lacuna que se busca corrigir via propostas de emenda constitucional.
A ampliação de áreas protegidas e planos de manejo sustentáveis são considerados essenciais para evitar que a lista de espécies ameaçadas da Caatinga cresça ainda mais.
Em síntese, ostatusdeconservaçãodabiotacaatingueiraépreocupante
Jáhouveextinçõesconfirmadas(e.g.ararinha-azul)edezenasdeespéciesencontram-seemrisco elevado. A combinação de desmatamento (≥45% do bioma alterado), caça e mudanças climáticas impõe desafios de sobrevivência à fauna e flora.
A proteção dessas espécies não é importante apenas localmente, mas tem relevância global –muitas são únicas no mundo e seu desaparecimento representaria a perda irrecuperável de um legado evolutivo de milhões de anos.
Neste contexto, passando a enfrentar o que hoje é realizado pelo bioma em favor do meio ambiente, ou seja, sobre o “SequestrodeCarbonopelaVegetaçãodaCaatinga”asurpresaé demuitos.Explico.
É que mesmo sem investimento através de sua biodiversidade vegetal atua a caatinga de forma importante na função de realizar sequestrodecarbonoatmosférico em alta escala e por longo período.
As plantas da Caatinga, embora de porte mais baixo em comparação com florestas úmidas, apresentam surpreendente eficiência em capturar e armazenar carbono (CO₂) por meio da fotossíntese.
Estudos ecofisiológicos recentes (2010–2020), conduzidos pelo Observatório Nacional da Caatinga e diversas instituições, revelaram que a Caatinga é um dos sumidouros de carbono maiseficientesdomundoentreasflorestassecas
Em quase uma década de monitoramento contínuo, mediu-se que o bioma removeu em média 527gdecarbonopormetroquadradoaoano, equivalendo a ~5,2toneladasdecarbonopor hectare/ano (t C/ha·ano).
Esse valor, que corresponde a cerca de 19 toneladas de CO₂ por hectare/ano, coloca a Caatinga em pé de igualdade ou até superior a algumas florestas tropicais úmidas em termos de eficiência no uso do carbono.
Éimportantedistinguir fluxoanualdecarbono(sequestro) do estoquedecarbono armazenado na biomassa.
Em condições atuais, a vegetação da Caatinga armazena em média cerca de 35a40toneladas de carbono por hectare em sua biomassa acima do solo (troncos, galhos, folhas) – valor que pode chegar a ~3.350toneladasdeCporkm² em áreas bem conservadas.
Adicionalmente, há um enorme estoque de carbono retido nos solos do bioma (matéria orgânica), estimado em ~12.500 toneladas de C por km² de Caatinga intacta, até 1,5 m de profundidade.
Esses estoques representam séculos de acúmulo de matéria orgânica que permanece “seqüestrada” enquanto o ecossistema estiver preservado.
No que tange ao sequestro anual, há variações conforme as condições locais (clima, solo, fisionomia da vegetação).
A Tabela4 aseguir apresenta estimativas quantitativas compiladas de diferentes estudos para a taxa de captura de carbono pela vegetação caatingueira:
Condição da VegetaçãoCaatinga
Sequestro de Carbono Anual (t C/ha·ano) Fonte/Observações
Caatinga média (valor geral)
~5,2 tC/ha·ano (≈ 19t CO₂/ha·ano) Fluxo médio 2013–2023 medido in situ.
Áreas mais úmidas (hipoxerófilas) até ~5,0 t C/ha·ano Ex.: ecótono Agreste, >700 mm chuva.
Áreas mais secas (hiperxerófilas)
~1,5–2,5 t C/ha·ano Ex.: regiões <400 mm chuva/ano.
Comparativo: Amazônia
Comparativo:
~5,7 t C/ha·ano (balanço líquido)
Produtividade primária muito alta, porém grande parte do C é reemitido pela respiração do ecossistema. Eficiência líquida ~5%.
Florestas Secas globais 2–4 t C/ha·ano (típico) Caatinga está acima da média mundial para ecossistemas semiáridos.
Conforme os dados acima, mesmo nos trechos mais secos da Caatinga há um sequestro positivo robusto (~1,5–2,5 t C/ha·ano), algo notável para regiões de apenas ~300 mm de
4 Taxas de sequestrode carbono estimadas na Caatinga, em diferentes condições,e comparação com outros biomas. Valores em toneladas de carbono fixado por hectare ao ano (1 t C ≈ 3,67 t CO₂). Fontes: Observatório do Carbono na Caatinga (Embrapa/INSA/UFCG); Sudene (2025); Pérez et al. (2023).
chuva/ano. Nas porções mais favorecidas por chuvas (transição para o Agreste, >700 mm/ano), a taxaanualdefixaçãopodealcançarousuperar5toneladasdeCporhectare.
Esses números rivalizam com (e em eficiência superam) biomas úmidos. Por exemplo, enquanto a Amazônia absorve enormes quantidadesbrutas de CO₂, seu balançolíquido (absorção menos respiração/ecossistema) retém somente cerca de 2–11% do carbono assimilado, ou ~5–6 t C/ha·ano na média.
Já a Caatinga, graças à sua resposta “explosiva” logo após as chuvas, consegueconverter45–60%doCO₂ capturadoembiomassapermanente (troncos,raízes etc.),liberando apenas~40–55% de volta via respiração.
Ou seja, a eficiência de sequestro líquida da Caatinga (45–60%) é superior à de qualquer outrobiomabrasileiroavaliado até o momento.
Os fatores por trás dessa alta eficiência incluem a adaptação das plantas da Caatinga em aproveitar cada gota de chuva de forma otimizada. Como explicam Cunha et al. (UFCG), “as plantas são verdadeiras especialistas: quando chove, elas rapidamente ‘acordam’, crescem e fazem fotossíntese intensa, retirando grandes quantidades de CO₂ da atmosfera em pouco tempo”.
Em seguida, muitas perdem as folhas na seca, reduzindo respiração e perdas. Esse ciclo sazonal confere à Caatinga um papel desproporcionalmente grande na regulaçãodocarbonoregional.
Em termos de espécies vegetais individuais, o sequestro de carbono varia conforme o porte e a taxa de crescimento. Árvores lenhosas de maior porte, como a aroeira (M. urundeuva) ou o angico (Anadenanthera colubrina), acumulam grandes quantidades de biomassa ao longo de décadas, servindo como importantes reservórios de carbono. Já espécies de ciclo de vida curto (ervas anuais que surgem na chuva) fixam carbono rapidamente, mas o devolvem ao solo em poucos meses como matéria orgânica.
A composição de espécies influencia o balanço: áreas de Caatinga mais preservada, com predomínio de espécies arbóreas tardias (ex.: M.urundeuva, Commiphoraleptophloeos), tendem a acumular mais biomassa estável, enquanto áreas degradadas, dominadas por vegetação secundária baixa, armazenam menos carbono.
Assim, conservar a diversidadedeestratoseespécies – de cactos e arbustos a árvores altas –é fundamental para maximizar o sumidouro de carbono do bioma.
Cabe notar que os serviços de sequestro de carbono da Caatinga têm relevância global no combate às mudanças climáticas. Pesquisas indicam que, mantido intacto, o bioma Caatinga funciona como sumidourolíquido (absorve mais CO₂ do que emite) mesmo sob cenário de secas prolongadas.
Tais descobertas abrem caminho para programas de crédito de carbono e pagamento por serviços ambientais na região, remunerando iniciativas de preservação e restauração da vegetação nativa.
Em outras palavras, conservar a vegetação da Caatinga não apenas protege espécies, mas também presta umbenefícioclimático gratuitoao mundo, absorvendo carbono da atmosfera em quantidades significativas ano após ano.
ImportânciaGlobaleImpactosseaCaatingaDeixassedeExistir
Dada sua biodiversidade única e função ecológica, a Caatinga possui uma importância desproporcionalparaoambienteglobal
Trata-se da maior região de florestas tropicais secas da América do Sul, um ecossistema raro em escalamundial.Imaginara Caatinga“ausente”doplaneta –istoé, seelanãoexistisse–permite avaliar o tamanho da perda que isso representaria:
Extinçãoemmassadeespéciesendêmicas:
Cerca de 500–600espéciesdeplantas e inúmeras espécies animais que só ocorrem na Caatinga simplesmente desapareceriam. Isso significaria a extinção instantânea de 15% da flora e 3% da fauna brasileiras, reduzindo significativamente a diversidade global de genes, plantas e animais. Espécies como o soldadinho-do-araripe, arara-azul-de-lear, jararaca-da-seca (Bothropscaatingae) e incontáveis insetos e microrganismos exclusivos seriam perdidos para sempre, empobrecendo o patrimônio natural da humanidade. Vale lembrar que a Caatinga abriga recursos genéticos valiosos – plantas medicinais, forrageiras resistentes à seca, espécies polinizadoras – cujo desaparecimento eliminaria potenciais benefícios científicos e econômicos ainda desconhecidos. Nenhum outro biomapoderiasubstituiressaslinhagensevolutivasúnicas.
Liberação de grandes estoques de carbono: Conforme visto, a Caatinga armazena dezenas de toneladas de carbono por hectare em sua biomassa e solo. Se o bioma não existisse (ou fosse inteiramente destruído), estima-se que bilhões de toneladas de CO₂ seriam liberadas na atmosfera pela decomposição/queima dessa matéria orgânica. Esse pulso de carbono contribuiria significativamente para o aquecimento global.
Estudos indicam que 1 km² de Caatinga conservada contém ~3.350 t de carbono na vegetação – extrapolando para ~844.000 km², isso equivale a cerca de 2,8 gigatoneladas de carbono (mais de 10 gigatoneladas de CO₂). A perda completa do bioma, portanto, teria um impacto mensurável nos níveis atmosféricos de CO₂ global. Além disso, a Caatinga deixaria de funcionar como sumidouro ativo: atualmente o bioma retém ~45–60% do carbono que fixa, agindo como um freio no acúmulo de gases-estufa. Sem a Caatinga, a capacidade do planeta em absorver CO₂ seria menor, exigindo esforços adicionais em outros setores para compensar.
Alterações climáticas regionais (teleconexões): A vegetação da Caatinga contribui para o ciclo hidrológico regional – ainda que modesto comparado à Amazônia, ela ajuda a manter umidade local e evitar extrema aridez. Sem o bioma, grande parte do Nordeste poderia virar deserto verdadeiro, com solos expostos refletindo mais radiação solar e gerando ilhas de calor.
A tendênciaàdesertificação já existe em áreas degradadas da Caatinga; sem nenhuma cobertura vegetal,haveria intensificação de tempestades de poeira, perda de solos férteis e possivelmente mudanças nos padrões de chuva locais. Estudos do INPE mostram que o norte da Bahia já registra trechos de clima árido aparecendo onde antes era semiárido (cerca de 6 mil km² recém-classificados como áridos) devido às mudanças climáticas antropogênicas. Isso ilustra o que ocorreria em larga escala se a vegetação caatingueira desaparecesse: o semiáridonordestinopoderiaseconverteremumdeserto expandido, com impactos potencialmente se estendendo paraoutrasregiões (p. ex., mais poeira atmosférica podendo afetar a formação de nuvens até no Atlântico).
Impactoem outros ecossistemas e rios: A Caatinga faz transição com Cerrado, Mata Atlântica e Amazônia em suas bordas. A ausência da Caatinga poderia criar vácuos ecológicos entre esses biomas, facilitando a expansão de processos degradativos (por exemplo, o deserto do Saara “verdejando” para sul em ciclos de poeira transatlântica poderia encontrar menos barreiras verdes até atingir o Cerrado). Além disso, rios importantes como o São Francisco e o Parnaíba nascem ou atravessam áreas de Caatinga. Sem a mata ciliar e cobertura desse bioma, tais rios sofreriam maior assoreamento e evaporação, comprometendo recursoshídricos para milhões de pessoas fora do Nordeste também. O São Francisco, por exemplo, leva águas da Caatinga até o Atlântico; sem vegetação, suas cheias e secas se tornariam mais extremas, afetando agricultura, hidrelétricas e ecossistemas ribeirinhos em quatro regiões.
Perdadeserviçosecossistêmicosgratuitos: A polinização agrícola, o controle natural de pragas,a ciclagemde nutrientes e a retenção de solos prestadospelos organismos da Caatinga deixariamde existir. Regiões vizinhasprodutivas, como fruticulturas irrigadas do vale do São Francisco, poderiam ter redução na produtividade pela falta de polinizadores nativos e pelo clima mais inóspito. Estudos já indicam que áreas agrícolas próximas a matasdaCaatingasebeneficiamde serviçosambientaiscomoapolinizaçãorealizada pela fauna nativa. Sem o bioma, haveria um custo econômico para substituir esses serviços(porex.,necessidade depolinizaçãomanualoumaiorusodeinsumosquímicos).
Estimativas globais atribuíram bilhões de dólares anuais de valor à polinização feita por abelhassilvestres–aCaatinga,ricaemabelhas(221spp.),contribuicomsuapartenesse serviço. Sua ausência implicaria prejuízos difusos,porém significativos, para a segurança alimentar regional e possivelmente nacional.
Em suma, seaCaatinganãoexistisse,omundoperderiaumimportantealiadonaregulação doclimaeumreservatóriodebiodiversidadesingular. Haveria um déficitirreversível tanto na estabilidade climática quanto na herança biológica do planeta. Cientistas ressaltam que as florestas secas tropicais da Terra já estão entre os ecossistemas mais degradados e menos representados em conservação – a Caatinga, como maior exemplar sul-americano, é peça-chave nesse quebra-cabeça global.
Sua inexistência ou destruição total seria um cenário catastrófico que agravaria a crise climática e a sexta extinção em massa de espécies. Portanto, preservar a Caatinga não é só uma questão local ou nacional, mas um imperativo de responsabilidade planetária.
Caatinga,atribuindovaloreconstruindosoluções
Atualmente, estima-se que cerca de 54–55% davegetação original da Caatinga ainda esteja depé (dados de 2010 indicavam 53,6% remanescente; monitoramentos mais recentes sugerem perto de 50–52% em 2020).
Projetar um cenário em que somente 20% da área original permaneça preservada – ou seja, um grau de devastação de 80% – permite antever impactos ecológicos e econômicos severos, muitos dos quais já podem ser vislumbrados pela tendência de degradação atual.
Impactos Ecológicos e na Biodiversidade: Com apenas 1/5 da cobertura nativa restante, a fragmentação do habitat atingiria níveis extremos. Os remanescentes de Caatinga provavelmente ficariam isolados em “ilhas” dispersas em meio a um mar de áreas desmatadas (pastagens, agricultura ou desertos).
Nesse quadro, diversas espécies não conseguiriam manter populações viáveis. Modelos ecológicose aexperiência deoutrosbiomas(comoa Mata Atlântica, hoje com ~12% da cobertura original)indicamquequandoaperdadehabitatsuperacertolimiar(geralmente 70–80%),ocorrem extinções em cascata. Na Mata Atlântica, >50% dos mamíferos de médio e grande porte entraramemriscodeextinçãoapósodesmatamentogeneralizado, e várias aves endêmicas foram extintas localmente.
Na Caatinga, com 80% de perda, é provável que muitas espécies endêmicas desapareçam totalmente – especialmente aquelas que já têm distribuição restrita. Por exemplo, se só 20% de Caatinga restar, é improvável que fragmentos contenham as condições específicas para soldadinho-do-araripe ou aruá-do-sertão (pequeno lagarto endêmico) – ambos poderiam ser extintos. Estimativas de especialistas apontam que nesse cenário até 50% das espécies da Caatinga poderiam entrar em alguma categoria de ameaça, seja por redução populacional drástica ou por distribuição muito fragmentada.
A perdadediversidadegenética também seria enorme. Populações remanescentes de plantas ficariam isoladas, sujeitas a erosão genética e endogamia, reduzindo sua resiliência a mudanças ambientais.
Apolinização cruzada demuitasárvores,porexemplo,cairiaseospolinizadoresnãoconseguirem se mover entre manchas de floresta distantes.
Alerta-se também para o fenômeno de débito de extinção: mesmo que algumas espécies ainda persistam quando só 20% do habitat resta, a configuração ecológica pode ser insustentável a longo prazo, levando-as à extinção em décadas subsequentes pela falta de território ou parceiros reprodutivos suficientes.
Desertificaçãoe Degradação Climática Regional: Com 80% do solo exposto ou convertido, a desertificaçãodosemiáridodariaumsaltoalarmante.Já hoje,regiõesdaCaatingadegradada apresentam sinais de desertificação grave em 112 municípios (9% da área). Restando apenas
20% de cobertura vegetal, extensas áreas se tornariam “desertos produtivos” improdutivos, com solo erodido e salinizado.
O microclima local se tornaria ainda mais quente e seco, pois as poucas áreas florestadas não conseguiriam mitigar o calor em escala suficiente. Cientistas do clima apontam que a Caatinga desmatada tende a aquecer mais a atmosfera local, agravando a seca (menos evapotranspiração -> menos chuva).
A “ilha de calor” do sertão se intensificaria, possivelmente alterando o regime pluviométrico em todo o Nordeste. Isso retroalimentaria a degradação: solos secos e sem vegetação geram poeira que inibe a formação de nuvens, prolongando estiagens.
O risco de tempestades de poeira seria maior – eventos como a enorme nuvem de poeira ocorrida no interior de SP/MS em 2021 poderiam tornar-se comuns no sertão.
Ademais,a hidrologiaregionalcolapsaria.Com 80%de desmatamento, ainfiltraçãode água da chuva no solo diminuiria drasticamente, aumentando o escoamento superficial e perdas. Rios intermitentes passariam a secar mais cedo e por períodos mais longos, e muitas lagoas temporárias talvez nem cheguem a encher.
ORioSão Francisco,que drena boaparteda Caatinga,sofreriacom assoreamentodostributários e redução de caudal na época seca, prejudicando irrigação e abastecimento em toda sua bacia. Estudos já preveem que, sem cobertura vegetal, a vazão do São Francisco pode cair significativamente, ameaçando geração de energia e o projeto de transposição de águas.
Impactos Econômicos Locais e Globais: Ironicamente, o desmatamento da Caatinga historicamente esteveligadoa atividadesdebaixoretornoeconômico einsustentáveis.A principal causa da destruição atual é a extraçãodelenhaecarvãovegetal, usados nas indústrias locais (produção de gesso, cerâmica) e até em siderúrgicas de outros estados.
Esse é um uso de “capital natural” que nãoserenova: derruba-se a vegetação nativa para obter energia barata, mas o solo assim exposto perde fertilidade e a vegetação leva décadas para se regenerar – se é que consegue sem manejo. Com 80% de desmate, teríamos vastas áreas anteriormenteflorestadasconvertidasempastagenspobresouterrasabandonadas de solo degradado.
A produtividadeagropecuáriaprovavelmentecolapsaria: hoje, em áreas onde a Caatinga foi substituída por pasto ou roçado, observa-se queda rápida da capacidade produtiva após poucos anos, a menos que haja insumos pesados (irrigação, fertilizantes) – o que é inviável em larga escala no sertão.
Assim, longe de gerar riqueza, um cenário de somente 20% de Caatinga intacta poderia levar a mais pobreza e êxodo rural. Boa parte da população rural, sem floresta para fornecer produtos extrativistas (frutas como umbu e mangaba, mel de abelhas nativas, plantas medicinais, forragem natural para rebanhos) e sem água suficiente, seriaforçadaaabandonarocampo. Esse êxodo já acontece em regiões desertificadas; com 80% de degradação, poderia se tornar generalizado.
ComoalertaopesquisadorAldrinPérez(INSA),acontinuidadedadegradaçãoimplicará “expulsão daspessoasdocampo;elasvãoocuparperiferiasemorrosnasgrandescidades,trazendonovos
problemas ambientais como deslizamentos”. Ou seja, o custo social da perda da Caatinga se manifestaria em inchaço urbano, desemprego e desastres em cascata, cobrando um preço econômicoelevadoaopaís (gastos com assistência social, reconstrução de áreas atingidas etc.).
Além disso, a devastação da Caatinga significaria perder oportunidades de uso sustentável quepoderiamrendermaiseconomicamentedoqueaderrubada. Estudos do MMA salientam que a falta de conhecimento sobre a biodiversidade da Caatinga impede mensurar seu potencial socioeconômico – potencial este que poderia se traduzir em novos fármacos, cosméticos, alimentos e atividades como o ecoturismo.
Por exemplo, o mercado de mel de abelhas nativas, óleos essenciais de plantas do sertão, ou mesmo créditos de carbono, tudo isso requer a floresta em pé. Com apenas 20% preservado, essas atividades teriam alcance muito limitado ou nem existiriam, desperdiçando um “bolo econômico” possivelmente muito maior que o ganho obtido com desmatamento.
Um cálculo simples de serviços ecossistêmicos pode ilustrar: estimativas globais sugerem que a vegetação nativa fornece serviços (água, clima, polinização) que, se monetizados, valeriam dezenas de milharesde dólares porhectare. Se 80% desses serviços sumirem, regiões inteiras do NE teriam de gastar mais em infraestrutura (poços, irrigação, ar-condicionado, importação de alimentos) para suprir o que a natureza antes fornecia de graça.
Emissões de CO₂ e compromissos climáticos: No cenário de apenas 20% de Caatinga restante, as emissões de carbono resultantes do desmatamento (passado e presente) colocariam o Brasil em dificuldade adicional para cumprir metas climáticas (NDC do Acordo de Paris).
A conversãode80%dobiomaem pasto/lavouraliberariapossivelmente bilhõesdetoneladasde CO₂ (vide seção anterior). Isso poderia equivaler a vários anos de emissões do setor energético nacional, por exemplo. Em termos de mercado de carbono, o país deixaria de contar com um de seus sumidouros – ao contrário, a Caatinga poderia virar fonte líquida de carbono (bioma emitindo mais CO₂ do que absorvendo) se o remanescente for muito pequeno e isolado para compensar a decomposição na área desmatada.
Tal situação comprometeria a imagem e economia do Brasil em acordos ambientais, possivelmente acarretando sanções ou perda de acesso a financiamento verde.
Resumindo, se a Caatinga encolher a apenas 20% de sua extensão original, as consequênciasseriamecologicamentedesastrosaseeconomicamentenegativas.Teríamos uma paisagememdesertificação,comextinçõesgeneralizadasdeespécies,colapsodeserviços naturais e empobrecimento humano.
Osganhosimediatosobtidoscomdesmatamento(lenha,criaçãoextensiva)logocederiamespaço a perdas de produtividade e custos para mitigar os efeitos (como projetos caros de combate à desertificação e migração).
Esse cenário evidencia a urgência de ações preventivas agora, enquanto mais da metade do bioma ainda existe – evitando que a Caatinga siga o mesmo caminho de devastação da Mata Atlântica. Preservar pelo menos 20%, 30%, idealmente 50% ou mais da Caatinga intacta é não
apenas uma meta de conservação, mas de segurança climática e desenvolvimento sustentável para o Nordeste e o Brasil.
EstudodeCaso–SantaTeresinha,Paraíba,Brasil
Historicamente, áreas com menor desenvolvimento econômico frequentemente retêm mais vegetação nativa simplesmente por ausência de investimentos agrícolas de grande escala. É incontroverso que a Caatinga permaneceu relativamente menos desmatada que a Mata Atlântica ou o Cerrado durante o século XX em parte porque a região é pobre em chuva e solo, afastando a fronteira da agroindústria, sendo esse pensamento pobre de embasamento, mas, que reflete os motivos para a não “atenção” do bioma para exploração agrícola durante muitos anos.
Em outraspalavras, pode-se argumentar que a falta deinfraestruturae capital limitou a conversão da Caatinga em plantaçõesextensivas, oqueindiretamentefavoreceuaconservaçãodeparcelas dobioma
Entretanto, essa mesma ausência materializada na “pobreza” da população local é a responsável pelo uso dos recursos por essa comunidade muitas vezes de forma insustentável, como para produção de carvão, corte de lenha, uso irregular de recursos hídricos, ou ações que direta ou indiretamente promovam degradação ambiental na zona rural, e, ainda na área urbana quando observados os grandes centros formados por crescimento desordenado da população décadas após décadas vivenciando uma rotina de fuga da seca.
A mesma miséria e falta de investimentos que não deixou o solo ser usado da forma possível, melhor dizendo, permitida por lei, é também a responsável por desmatamentos para criação de roças de baixa produtividade ou venda de madeira. Não há desenvolvimento social, ou mesmo ganho ambiental de forma direta e originário da miséria, apenas o agravamento das condições climáticas mundiais, e, ampliação dos efeitos da seca sentidos na zona rural, urbana próxima e outros centros destinatários das migrações.
Estima-se que mais de 50% da madeira extraída na Caatinga é para energia doméstica e de pequenas indústrias locais (fornos de cerâmica, cal) em regiões carentes. A preservação relativa do bioma aparentemente de forma espontânea deve-se à fatores como baixaaptidãoagrícola e poucas políticasdeusodaterra(ousuaausência).
A expressão “indústria da seca” refere-se ao fenômeno em que elites políticas locais historicamente se beneficiaram da seca cíclica, mantendo a população dependente de favores (comodistribuiçãodeáguaemcarros-pipa,frentesdeemergência)emvezdeinvestiremsoluções estruturais (açudes, irrigação, desenvolvimento).
Isso defatoocorreu no Nordeste por décadaseatrasou o desenvolvimento socioeconômicocomo destacado na apresentação deste projeto.
Essa situação contribuiu para que grandes projetos agropecuários não florescessem amplamente (exceto em polos irrigados específicos), mantendo vastas áreas em regime extensivo tradicional, ou seja, o atrasoeconômicoimpostopela“indústriadaseca”impediuaconversãototaldaterra,
mas também manteve práticas arcaicas predatórias contra essa, com o uso extrativista e pouco preocupado com o “amanhã” por muitos, sem qualquer conhecimento sobre regrasou técnicasde manejo florestal sustentável.
Hoje, reconhece-se que envolver as comunidades locais na conservação com benefícios é o caminho ideal – antítese do modelo assistencialista passado.
Programas modernos propõem Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) justamente para romper essa lógica perversa de conservar pelamiséria, e simconservar gerando renda digna. Por exemplo, discute-se remunerar agricultores familiares que mantêm parcelas de Caatinga intacta, pelos serviços de carbono e biodiversidade que eles prestam ao mundo.
O estudo do Observatório da Caatinga abre perspectivas para créditos de carbono que poderiam trazer recursos internacionais a projetos no Nordeste.
Ou seja, começa a haver um entendimento de que a contrapartida financeira ao “benefício gratuito”énecessáriaejusta
Até omomento, poroutrolado, acapturadeCO₂ pelaCaatingatemsidoumserviçoambiental gratuito,ouseja,nãoremunerado –nemaoshabitantesdo semiáridonordestinobrasileiro, nem aos governos locais.
Diferentemente de florestas amazônicas, que atraem atenção global e mecanismos de REDD+, a Caatinga historicamente recebeu pouca compensação por conservar carbono.
Apenas recentemente os dados científicos comprovaram a alta eficiência do bioma em estocar CO₂, o que fortalece argumentos por compensação. Nesse sentido, se faz urgente pensar a caatinga também como uma fonte de renda potencial, verde, sustentável e real, exclusiva do solo Brasileiro, produto nosso, ganho mundial, mantido mesmo em condições adversas impostas à população e ao meio ambiente, o que por si só já é indício de que pensar a caatinga como destinatária de políticas publicas seguras e constantes é investimento ambiental e econômico de baixo risco e grande eficiência, conforme será demonstrado, e, conforme já é objeto de programa Caatinga (Sudene/MMA) onde são discutidos incentivos econômicos para quem preserva, integrando desenvolvimento e conservação.
Hátambémprojetosde agriculturadebaixocarbono emanejoflorestal comunitário quebuscam aliar renda e manutenção da cobertura vegetal (plantio consorciado de espécies nativas para uso sustentável, apicultura em matas conservadas, etc.).
No passado, programas de combate àdesertificação ficaram mais nopapel. Atualmente fontes de financiamentocomoo FundoClima dogovernofederaleiniciativasdoBancodoNordeste(Fundo Caatinga) mencionadas desde 2010, cujo objetivo era canalizar recursos para conservação e desenvolvimento sustentável na região, são meios de operacionalizar e materializar projetos ambientais e sociais no semiárido nordestino, garantindo ao sertanejo, ao nordestino, ao cidadão brasileiro o orgulho de dizer também que a “caatinga é nossa”, e só nossa, é do Brasil.
A Caatinga,mantidaemboaparteporfaltadedesenvolvimento,prestaumserviçoclimáticoglobal não remunerado. Há uma dívida ambiental com o povo do semiárido, que historicamente
recebeu pouca ajuda para se desenvolver de forma sustentável e agora é instado a conservar o que resta do bioma em prol do planeta. A pobrezaeasdificuldadesdeumpovoeregiãonão éaliadadaconservaçãoduradoura – ela tende a solapar a própria capacidade de conservação. O caminho apontado por especialistas ambientais mundiais é quebrar esse ciclo, investindo em educação, recursos e tecnologias de uso sustentável da Caatinga, de modo que o moradorlocal seja recompensado por proteger o bioma, através de ações construtivas e ativas, novas rotinas ou serviços, como serviços ambientais de sequestro de carbono, proteção da biodiversidade, ou por incentivos à produtos da sociobiodiversidade (frutos, mel, artesanato), fortalecidos por políticas públicas que elevem a Caatinga ao status de patrimônio nacional a ser gerido com participação popular.
Seja via mercados de carbono, seja via investimento público, é preciso remunerar e capacitar as comunidades para conservar através do desenvolvimento sustentável, combatendo a sua estagnação.
Como resumiu um estudo, a permanência do bioma está ligada à melhoria de vida de 28 milhões de pessoas que dele dependem – “a conservação e uso sustentável dos recursos naturais da Caatingasãofundamentaisparaodesenvolvimentodaregiãoeamelhoriadaqualidadedevida dapopulação”
A proteção da Caatinga e ocombate à misériae desigualdades sociaisdevemandar juntos, numa relação ganha-ganha: o mundo ganha serviços ambientais, e o povo local ganha meios de vida dignos como guardiões do seu patrimônio ambiental, e assim, surge o reurb-v, parte do projeto CO2.
SantaTeresinha
O município de Santa Terezinha, localizado no sertão da Paraíba, enfrenta sérios desafios relacionados à ocupação irregular do solo urbano, sendo comum a existência de núcleos urbanos informais, desprovidos de titulação jurídica dos imóveis, infraestrutura adequada e acesso a serviços públicos essenciais.
Este cenário compromete não apenas o direito fundamental à moradia digna, mas também inviabiliza o desenvolvimento urbano planejado e a efetivação da função social da propriedade.
A Regularização Fundiária Urbana (REURB), instituída pela Lei Federal nº 13.465/2017, é uma política pública essencial neste momento para o município.
A execução da REURB proporcionará:
Segurança jurídica à posse e à propriedade;
Ordenamento territorial e urbanístico;
Ampliação da arrecadação municipal (ITBI, IPTU);
Acesso dos munícipes a financiamentos e políticas públicas;
Promoção da dignidade e inclusão social.
Especificamente para a cidade de Santa Teresinha o estudo inicial aponta as seguintes urgências e objetivos a serem perseguidos:
Regularizar os núcleos urbanos informais consolidados em Santa Terezinha-PB;
Emitir títulos de propriedade aos ocupantes, garantindo sua inscrição registral;
Promover a inclusão social e o acesso à infraestrutura urbana adequada;
Ativar a arrecadação pública através da formalização imobiliária;
Estimular o desenvolvimento econômico local por meio da valorização dos imóveis.
O trabalho exige planejamento e adoção de ações já pautadas em políticas públicas a serem implantadas concomitantemente, a saber:
1. Mapeamento das áreas a serem regularizadas:
o Identificação de núcleos urbanos informais com base em dados da Secretaria de Obras, Assistência Social, Tributação e Meio Ambiente.
2. Instituição da Comissão de Regularização Fundiária:
o Criação por Decreto Municipal de comissão intersetorial com representantes do poder público, cartório de registro, comunidade e entidades sociais.
3. Classificação das áreas como REURB-S ou REURB-E:
o Conforme critérios da Lei 13.465/2017, com prioridade às áreas de interesse social.
4. Elaboração do Projeto de Regularização:
o Memorial descritivo georreferenciado;
o Planta do parcelamento;
o Listagem dos ocupantes com dados completos;
o Indicação de melhorias de infraestrutura previstas.
5. Aprovação do Projeto e Emissão da CRF:
o O Município aprova o projeto e emite a Certidão de Regularização Fundiária (CRF).
6. Registro no Cartório de Imóveis:
o A CRF e os documentos são levados ao registro;
o Abertura da matrícula-mãe e, em seguida, das matrículas individualizadas;
o Registro dos títulos de legitimação fundiária ou propriedade.
7. Entrega de Títulos aos Beneficiários:
o Campanha institucional de entrega dos títulos;
o Inclusão das famílias em programas de habitação, infraestrutura e tributação justa.
Emsequencias,necessárioatençãoaosseguintesprocedimentosquedeverãotramitareexistirem concomitantemente:
1. Regularização de Imóveis Rurais e Habitação Rural:
o Cadastro e regularização de posses e propriedades rurais;
o Substituição de casas de taipa ou barro por moradias de alvenaria em parceria com programas estaduais e federais;
o Inclusão das unidades no cadastro do INCRA e outros órgãos competentes.
2. Saneamento Rural Integrado:
o Projeto de instalação de fossas sépticas biodigestoras em comunidades rurais;
o Sistemas simplificados de drenagem pluvial e controle de águas servidas;
o Programa de educação sanitária e ambiental.
3. Gestão de Resíduos Sólidos e Líquidos na Zona Rural:
o Criação de pontos de coleta seletiva e reciclagem;
o Apoio às associações comunitárias para gestão compartilhada;
o Coleta periódica e sistema de destinação correta dos resíduos.
4. Implantação de Cisternas, Poços e Casas Populares:
o Projeto para construção de cisternas familiares com capacidade de 16 mil litros;
o Implantar poços artesianos com energia solar para abastecimento coletivo;
o Construçãode conjuntoshabitacionaispopularesna zonaruralcominfraestrutura básica.
Dessas ações de gestão, a serem realizadas com parcerias e de forma setorial, espera-se:
Segurança jurídica para mais de X famílias;
Formalização do parcelamento urbano e rural;
Integração de territórios irregulares à cidade formal;
Fomento ao desenvolvimento urbano e rural sustentável;
Estímulo à regularização de tributos e aumento de receitas municipais.
As informações e tese em defesa são pautadas inicialmente no seguinte acervo legal:
Lei Federal nº 13.465/2017
Lei nº 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos)
Provimento CNJ nº 65/2017
CadernoTécnico:RegistrodaRegularizaçãoFundiáriaUrbana,2ªedição(2024) -Acesso à Terra Urbanizada
SantaTeresinhasegundodadosdoIBGE temumTerritório: 359,442 km² , populaçãode 4 499 habitantes (estimativa 2024), densidadedemográfica: 12,25 hab/km² (2022), ReceitaBruta Municipal (2023) de R$ 32.108.099,91, PIB per capita (2021): R$ 12.569,44. Segundo Censo 2022, foram declarados pelos consultados que 65,1 % dos domicílios são próprios, mas essa não é a realidade consolidada emcartório de títulose documentos imobiliários.Possuiapenas 1posto degasolina,1correspondentebancárioeumaagênciadecorreios.Contacomestruturaeserviços disponíveis ou divulgados em www.santateresinha.pb.gov.br
A cidade reúne características típicas que justificam a implantação de três modalidades de regularização fundiária:
REURB-S (Social): combate à moradia precária urbana, garantindo a titulação de domicílios de baixa renda e acesso a serviços públicos.
REURB-R(Rural): regularizaçãodepropriedadesruraisfamiliares(<500ha),integrandoas a programas de desenvolvimento agropecuário e de acesso a crédito.
REURB-Verde: transformação de passivos ambientais (RL/APP não averbados) em ativos de carbono, conforme arranjo jurídico-institucional descrito em REURB-Verde da Caatinga , gerando receita climática para o município.
Paraatendimentoàfinalidadeeeficiênciadecadaumadasaçõesacimanecessário:
Modalidade AçõesPrincipais
REURB-S
REURB-R
• Georreferenciamento e averbação de até 350 domicílios urbanos vulneráveis.• Doação de 100 casas populares pela CEHAP.• Aquisição de 50 unidades pelo programa Minha Casa Minha Vida.• Substituição de 80 casas de adobe por alvenaria.• Calçamento (3 km) e infraestrutura de água/esgoto no novo bairro “Odilon Nunes de Sá”.
• Regularização de 310 propriedades rurais familiares.• Construção de parque industrial comunitário (3 galpões multiuso).• Centro de pesagem, vacinação e exposição agropecuária.• Centro de locação de implementos agrícolas para famílias cadastradas.• Assistência técnica via EMATER-PB.
BenefíciosEsperados
• Titulação formal de famílias de baixa renda.• Melhoria nas condições habitacionais e de saneamento.•Inclusãosociale elevação da autoestima comunitária.
REURB-
Verde
• Fortalecimento da cadeia produtiva local.• Geração de renda e emprego no meio rural.• Acesso a financiamento rural (Pronaf, BNB).
• Georreferenciamento de 23 000 ha de RL/APP para certificação de carbono.• Elaboração de Plano de Projeto de Carbono (SBCE-NBS-01).• MRV com buffer-risco 15 % e validação/verificação independentes.• Emissão de ~1,24 Mt CO₂e CRCSBCE e leilão em B3.• Distribuição de 5 % de royalties ao Fundo Municipal de Carbono.
• Receita climática anual estimada em até R$ 46 mi (R$ 38/t).• Incentivo à recuperação ambiental e reflorestamento.• Aumento de 2 p.p. no ICMSVerde PB.
Não sendo tarefa de umdia, foi pensado em um possível cronograma de Execução (maio 2025–dez2027),apenasatitulodeexposiçãoecontextualização:
Fase Período PrincipaisEntregas
0.InstalaçãoPolítica Maio–Jun 2025 Decreto criando Comissão Municipal REURB; inclusão no PPA/LDO-2026.
1.Capacitação&Legislação Jul–Set 2025 Oficinas SIGEF/CAR/MRV; minuta de lei municipal de royalties climáticos.
2. Diagnóstico FundiárioAmbiental Ago–Nov 2025 Levantamento de matrículas urbanas e rurais; mapa RL/APP.
3. Georreferenciamento & Averbação Out 2025–Mar 2026
350 domicílios urbanos e 310 propriedades rurais averbados.
4. PPC Carbono & MRV Base Dez 2025–Abr 2026
5. Registro & Validação SBCE Abr–Ago 2026
6.Verificação&Certificação Set–Nov 2026
7.EmissãodeCRC-SBCE Dez 2026
8. Comercialização & Receita Jan–Mar 2027
9. Obras Habitacionais & Infra Abr 2027–Dez 2027
Dois planos jurisdicionais de carbono; FPIC registrado.
Emissão de Identificador de Projeto; relatório de validação SBCE aprovado.
Inventário de biomassa; emissão de RVC e buffer.
Créditos registrados (~1,83 Mt) e royalties configurados.
Primeiro leilão B3; repasse de royalties ao município.
Entrega de 150 residências CEHAP/MCMV; calçamento bairro “Odilon Nunes de Sá”.
Entre agentes com possíveis interesses e jurisdição, além de possíveis demandas, destacam-se:
CEHAP: liberação de 100 unidades habitacionais para doação; 50 para financiamento;
Ministério do Desenvolvimento Regional / Caixa Econômica: enquadramento de 50 unidades no Casa Verde e Amarela;
SEIRHMA-PB / CVM: apoio à validação e registro dos projetos de carbono (quarto momento legislativo)
FNE Verde (sugestãoà criação) / BNB/afim - financiamento para infraestrutura dos galpões e centro agropecuário.
ICMBio/IBAMA/SUDEMA: anuências ambientais e simplificação de licenciamento.
PPA-2026eLOA-2025: dotação de R$ 1,3 mi para georreferenciamento e MRV; R$ 5 mi para obras urbanas e rurais.
A combinação de REURB-S, REURB-R e REURB-Verde em Santa Terezinha potencializa inclusão social,desenvolvimentorural,geraçãodereceitasverdesefortalecimentodagovernança ambiental, alinhando-se aos ODS 1, 11, 13 e 15 da ONU. Implementar este projeto por etapas, conforme cronograma, garantirá rápida entrega de benefícios à população e retorno financeiro ao município.
BibliografiaconsultadaIntrodução–ReurbVerde
1. MCCORMICK, K.; NEIJ, L.; EVANS, J.; BULKELEY, H. Greening the Economy: Sustainable Cities – Course Syllabus. Lund University/Coursera, última atualização set. 2021. Disponível em: https://www.coursera.org/learn/gte-sustainable-cities. Acesso em: 20 maio 2025. (Coursera)
2. ELMQVIST,T. etal. UrbanSustainabilityTransformations:Special Issue. AMBIO, v. 48, 2019.
3. ICLEI– Local GovernmentsforSustainability GreenClimateCitiesProgramManual Bonn, 2023.
4. UN-HABITAT. WorldCitiesReport2022:EnvisagingtheFutureofCities. Nairóbi, 2022.
5. RIO DECLARATION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT. United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 1992.
6. Ministério do Meio Ambiente (MMA) – PlanodeComunicaçãodoBiomaCaatinga (2018).
7. Embrapa – Portal Biomas: Bioma Caatinga – Contando Ciência (dados de espécies ameaçadas, área, etc.).
8. ISPN – O novo canto da Asa Branca: Caatinga (2021) – dados de endemismo e desmatamento.
9. Fundação Biodiversitas & MMA – AvaliaçãoeAçõesPrioritáriasnaCaatinga (2002) – cit. in Embrapa Semiárido FloraeFaunaAmeaçadasdaCaatinga
10. Kiill, L. H. P. etal. (Embrapa, 2009) – Caatinga:floraefaunaameaçadasdeextinção.
11. Silva, J. M. C. et al. (Org.) (2017) – Caatinga: The Largest Tropical Dry Forest in South America. Springer, 1ª ed. (compêndio científico do bioma).
12. Sudene(SuperintendênciadoDesenvolvimento doNE)– Notícia “Caatingadestacapapel na redução do aquecimento global” (28/04/2025).
13. Pérez, A. et al. – entrevistas e estudos (INSA/ONdaCBC, 2023): Revista Algomais; Senado Notícias.
14. Embrapa Semiárido – Notícia “Caatinga retirou 5,2 t de carbono por hectare/ano” (23/04/2024).
15. Senado Federal – MudançasclimáticasameaçamaCaatinga (Infomativa, 02/2024).
16. Minc, C. (Min. Meio Ambiente) – Entrevista coletiva sobre Desmatamento na Caatinga (02/03/2010).
17. MapBiomas – Coleção 5 (2020) – dados de perda de vegetação 1985-2019.
GrupoBiológico Nºdeespécies(aprox.)
Endemismoestimado
Plantas(flora) 1.500–3.300(até6.300incluindofungos) ~33%endêmicas
Mamíferos ~178 ~15%endêmicos(estimado)
Aves ~590
Répteis ~177
Anfíbios ~79
Peixes(dulcícolas) ~241
Váriasendêmicasregionais(ex: soldadinho-do-araripe)
Algunsendemismoslocais
Algunsendemismoslocais
Endemismobaixo(riosintermitentes)
Abelhasnativas ~221 –
RiquezaaproximadadeespéciesnaCaatinga,segundodadosoficiais(MMA/Embrapa)epesquisasatuais.Endemismorefere-se àproporçãodeespéciesrestritasaobioma.
Dimensão Os Sertões O Quinze Vidas Secas A Bagaceira Morte e Vida Severina
Clima análise científicoliteráriadaaridez retratodasecade 1915 paisagem árida como personagem êxodode1898 leito do rio seco, sertão semágua
Social / Econômica migraçãoepobreza estrutural fome, venda de passagens nomadismo familiar, trabalhoprecário retirantes sem destino trabalho inviável, economiadamorte
Política/Voto gênese do coronelismo preposto mercadejaauxílio autoridade repressiva (‘soldadoamarelo’) massa sem voz paraclientelismo caridade religiosa/política suprimecidadania
Cultural resistência do sertanejo solidariedade e desespero linguagem seca, silêncio misticismo de retirantes poesia dramática e denúncia