prefácio
Olhares Literários: uma Antologia chega a seu terceiro volume, dando sequência a uma experiência didática intensa e desafiadora, iniciada em 2019, na disciplina de Jornalismo Literário, que ministro a estudantes do curso de Jornalismo da PUCPR. Naquele ano, foram produzidos os textos integrantes do livro inicial desta coleção, que agora chega a mais um tomo. Trata-se de uma reunião das melhores reportagens produzidas pelos estudantes que cursaram a disciplina no primeiro semestre de 2022.
Os alunos e alunas, desta vez, foram desafiados não apenas a desenvolver novas habilidades jornalísticas, como observação atenta, escuta ativa, descrição de cenas, elaboração de personagens mais complexos e a busca de pautas para além dos limites do factual.
Foram produzidos, como nos dois primeiros volumes, três ciclos de reportagens: “Mundo Invisível”, “Perfil” e “Gonzo”. No primeiro, cuja proposta didática é exercitar a escuta e a observação, os estudantes foram desafiados a elaborar pautas a partir de um tema ao mesmo tempo amplo e específico: “Se essa rua fosse minha”. A proposta, desta feita, foi encontrar, não apenas no seu dia a dia, mas na rua ou bairro onde residem, fatos ou situações que, de alguma forma, revelem esse território físico e simbólico de intensa familiaridade, dentro da perspectiva do chamado Jornalismo de Proximidade. Nele, o repórter é desafiado a contar histórias que o cercam e, muitas vezes, são subestimadas ou passam despercebidas, por parecerem triviais demais. Não são.
No segundo ciclo, denominado “Perfil”, a proposta foi agregar mais uma das habilidades essenciais à linguagem do jornalismo literário: o desenvolvimento de personagens, por meio de entrevistas em profundidade com os perfilados e as pessoas que com eles partilham o convívio.
No terceiro e último ciclo, intitulado “Gonzo”, os estudantes receberam pautas, por meio de um sorteio virtual, com o objetivo de vivenciarem experiências de imersão participativa, assumindo o papel de narradores-repórteres, protagonistas de suas próprias reportagens. Como o propósito era trazer aos textos o que vivenciaram na própria Prefácio

12
pele, escrevendo em primeira pessoa, os futuros jornalistas tiveram de mergulhar em suas respectivas vivências, ocorridas em uma realidade pós-pandêmica.
Um conselho editorial, formado por professores do curso de Jornalismo da PUCPR, foi incumbido de selecionar as dez melhores reportagens produzidas em cada ciclo, após minha pré-seleção no processo de correção. O resultado presente neste livro, que reúne 30 reportagens de fôlego, atesta a criatividade, o talento e o poder de escrita dos autores e autoras.
Prof. Dr. Paulo Roberto Ferreira de Camargo

13
Prefácio




















mundo invisível se essa rua fosse minha










 Eduardo Veiga Nogueira as donas
Eduardo Veiga Nogueira as donas

Um frenético par de sandálias desponta na calçada. Os calçados corde-rosa fazem uma trilha notável ao atravessarem o asfalto escuro, molhado pela sutil chuva das 9 horas da manhã. Os carregamentos que pouco antes chegaram ao mercado no fim da rua já foram acomodados, e o barulho de lá vem apenas em forma de conversas esparsas. O que rompe de fato a calmaria é o chamado impaciente de Maria, assim que alcança o terreno vizinho: “Teresinha, Teresinha!” – Ela se agarra ao portão, amassando o vestido azul florido contra as barras de ferro. “Oh, Terezinha!” Rapidamente, um par de pantufas bordô chega do lado de fora do sobrado. Ainda ajeitando o roupão da mesma cor, Terezinha vem socorrer o quase lamento de Maria.
As duas senhoras conversam várias vezes ao dia. Sobre a rua, o cotidiano, as aflições, tudo diante do mesmo portão. Maria, de X anos, é uma das mais antigas moradoras da Travessa Professora Maria do Carmo de Figueiredo Silva, nos limites do bairro Alto Boqueirão com o município de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Ela viu gerações
Eduardo Veiga Nogueira 17
crescerem e escapulirem esquinas afora, inclusive as que moravam debaixo de seus braços. Além dos filhos, que seguiram seus próprios caminhos, o marido, conhecido como Seu Lopes, notório eletricista da região, morreu há cinco anos. E a viúva não abandona o homem de sua vida em um único diálogo. Enquanto reclama para Terezinha sobre a dificuldade que enfrenta para marcar uma consulta médica em um consultório próximo ao Santuário Nossa Senhora do Carmo, a voz embarga e os olhos ganham coloração avermelhada. Pelos cabelos ondulados e loiros, as mãos se esfregam e mostram inquietude. Pois tudo é dificuldade, tudo é sofrimento na vida de Maria.
Após a morte do marido, um dos filhos voltou à casa da mãe. No entanto, com o trabalho diário do rapaz, há quase dois anos, a idosa carece de companhia nas manhãs chuvosas e tardes entre nuvens. Sentada na rampa da garagem do triplex à direita, Maria espera. Não faltam casacos de tricô para aquecê-la frente à saudosa amarelinha de 2,5 metros. Ficou mais complicado fazer compras para a casa, validar documentação em órgãos públicos. Com menos dinheiro e mais distanciamento das questões do mundo, tornou-se mais dependente.
E depender de vizinho é ruim. Mas, depender de uma amiga, nem tanto.
Com um carrinho surrado ao lado do corpo e sombrinha sobre a cabeça, Maria deixa um pacote para Terezinha: “Eu como só um pouquinho. Pode cozinhar o feijão todo e eu fico com um pouquinho”. Além do pouco de feijão, que dura a semana toda, Terezinha leva também chuchu para o outro lado da rua. Maria adora um refogado. Não raro, a companheira ajuda Maria a embarcar nos ônibus de Curitiba, em busca de consultas médicas e validação de documentos.
Aos 71 anos, Terezinha Lazzarotto tem apenas quatro de vizinhança. Divorciada há mais de 20 anos e sem a presença dos filhos na casa, ela escolheu um dos nove apartamentos de um terreno a duas quadras. De paredes brancas, como a face de Terezinha, o apartamento é tão pequeno que a senhora deseja, algum dia, “vender a cama de casal e comprar uma de solteiro para ganhar mais espaço”.
As donas 18
As ideias e os planos de cada senhora são compartilhados entre elas. Mas nem tudo é assunto. Em um raro momento de firmeza e nenhuma excitação na fala, Terezinha até assusta Maria e outros vizinhos que presenciaram a cena. “Do meu filho a senhora não fala!” Ela se refere a Angelo, de 48 anos, que morreu em maio de 2021, por conta da Covid-19.
Era domingo. Inesperadamente, a filha que mora em Fazenda Rio Grande desceu de um carro em frente ao apartamento, por volta das 10 horas. Ela sabe que a mãe toma remédios para depressão e ansiedade, e a esperou tomar todos para contar: “O Anjo morreu, mãe”. Era como chamavam ele. Na faixa de idade de Anjo, mais de 81.858 pessoas foram acometidas pelo coronavírus em Curitiba. Dessas, 4.839 foram internadas. Por conta da pandemia e de a mesma filha ter sido diagnosticada com o coronavírus, não houve uma despedida mais apropriada. Naquele 28 de maio, Terezinha, no fim do dia, já estava sozinha, em casa, cercada pelas paredes brancas. O conforto e o consolo, que se estenderam a ela, por vezes em silêncio, não foram deixados um só momento por Maria, nos dias e meses que se seguiram.
“Olhe as roupas no varal, dona Maria”, grita uma vizinha. “E ainda falei para ela que está sem casaco nesta garoa”, ressalta Terezinha. Dizendo que já vai, Maria dá um tchau distraído para a amiga. Terezinha, por pouco, não responde. As duas sabem que logo estarão novamente trocando impressões e espiadas. Uma última olhadela para trás confirma isso. Pois uma amizade de chuchu e choro é tudo.
Eduardo Veiga Nogueira 19

As donas 20


a revolta dos bichos
Felipe Worliczeck Martins

Lucicleia Honorato dos Santos mudara-se para sua nova casa. Não fazia um ano ainda. Seu marido estava viajando e, portanto, ela decidiu deixar seu carro no meio da garagem. Foi quando a trabalhadora da área de ortopedia ficou de queixo caído quando viu um bicho subindo pela grade de sua casa. Espantada, gritou:
— Paulo! Socorro! — bradou, enquanto gesticulava com verve italiana.
Paulo, médico militar do Exército e ex-morador da casa 9, uma das poucas presentes no condomínio da época, foi acudir sua condômina.
— Calma, Luluzinha. Isso é um gambá — informou o homem para a dona da casa 19 — Só não chegue perto dele.
Era uma fêmea: tinha vários filhotes em suas costas.
Isso foi há mais de dez anos. Desde então, entre os aproximados 9 mil metros quadrados de área, pouca coisa mudou entre as 42 casas ali existentes. Uma demão de tinta e verniz aqui, uma repaginada no parquinho
Felipe Worliczeck Martins 23
das crianças ali e, nos últimos anos, bandeiras da República foram hasteadas como escudos ideológicos, as quais tiveram sua mensagem original transviada.
As idas e vindas dos gambás à casa de Lucicleia, porém, nunca mudaram. Desde então, as fêmeas vêm lhe mostrar a nova ninhada, que tenta brincar com os cachorros resgatados pela humana proprietária. Era a revolta dos bichos.
O Condomínio Jardim Vergínia X faz parte de uma série de condomínios construídos no começo do novo milênio no bairro São Braz, na região oeste de Curitiba, fazendo divisa com Santa Felicidade. O local está a menos de dois quilômetros da Área de Preservação Ambiental do Passaúna, com mais de 16 mil hectares. Pinheiro-bravo, araucária e árvores decíduas, nativas da região, invadem o condomínio por cima dos muros cinzentos.
Os animais não iriam ceder seu espaço de terra para a recémchegada “civilização”. Desde então, começaram sua “revolta”, seguindo a ideologia da desobediência civil. Os saguis pulam entre as árvores em busca de alimento; os jacus se empoleiram nas casas; o único lagarto, agora crescido, esgueira-se por entre jardins cuidadosamente podados. Sobrou para o quero-quero a rua central que divide o condomínio. Fazem da sua presença silvestre um protesto velado. A capivara, entretanto, nunca decidiu se unir a seus companheiros selvagens. Está muito confortável o Parque do Passaúna, a poucas léguas de distância.
A revolta, porém, foi subvertida: as pessoas adoraram a ideia de que vivem em uma vila próxima do mundo natural. O condomínio foi apelidado de “Jardim de São Francisco de Assis” pelos residentes, romantizando a vida bucólica.
“Até os esquilos daqui me conhecem”, diz Silas Dias de Oliveira, um homem cujos olhos demonstram menos idade do que o corpo bronzeado das inúmeras horas de exposição ao sol. O zelador, que trabalha há 15 anos no condomínio, mesmo com suas mãos calejadas do esforço diário, não se esquece nem um dia de dar comida aos jacus. Assim, as aves se amontoam ao redor dele tal qual galinhas.
A revolta dos bichos 24
A manhã é de gente, mas a noite é de bicho. Quando o sol cai, tatusbola se esgueiram pelas ruas curvas que serpenteiam as casas. Graxainsdo-mato andam assustados e serelepes no pequeno bosque aos fundos do condomínio. Na alvorada, já é possível ouvir o galo soar o seu cocoricó, como trombetas em tom de alerta: agora é a hora dos humanos. Por fim, os jacus se dispersam, e a procissão é repetida todas as noites.
A relação deixou de ser predatória e passou a ser simbiótica. Marcelo Flores, advogado e adventista, tomou o manto de síndico do condomínio. O homem, que deixou de lado o hábito de correr por falta de tempo, teve de acelerar seu passo novamente para retirar um gambá preso no telhado de uma casa. O corpo de bombeiros não lidava com animais silvestres.
A mensagem de revolta dos bichos, apesar de tudo, ainda se mantém. Mesmo após anos, toda vez que um gambá aparece na frente da moradia de Lucicleia para mostrar sua prole, seus olhos dizem que, embora a terra agora seja dos humanos, também já foi dela e de seus filhos.
Felipe Worliczeck Martins 25

A revolta dos bichos 26
 Giovana Bordini o iluminista aristocrático
Giovana Bordini o iluminista aristocrático

Calmos e tranquilos é a melhor forma de descrever os 350 metros da miúda rua que compõe um dos bairros de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Fazer esse trajeto é como passar por várias emoções em pouquíssimo tempo, tal qual vivenciar os altos e baixos de uma montanha-russa de intensidade leve, no período de um minuto. O pacífico caminho é cercado por trinta casas simpáticas e divergentes, pela extensão de cinco longas quadras, além de ser cortado por um pequeno, mas significativo, cinturão verde, que ilustra ainda mais a fama da região conhecida por ser vizinha de um pedaço da natureza.
Essa proximidade com o ambiente natural permite à rua escolher a trilha sonora que adora apreciar, na qual, na maioria das vezes, é a mesma música: uma combinação do canto dos pássaros, com o assovio do vento e o barulho da dança das altas árvores. Essa composição, porém acaba sofrendo algumas mudanças e, às vezes, as vozes e os barulhos de seus residentes acabam sobressaindo à melodia, transformando essa união de sons em uma sinfonia de barulhos diversos.
Giovana Bordini 29
A contida e voluptuosa via urbana recebeu o nome de Rua Jean Jacques Rousseau, em homenagem a um dos principais filósofos iluministas do século XVIII, talvez por sua proposta de colocar as pessoas em contato com a natureza, com o fim de torná-las melhores, tal como é dito na sua teoria contratualista. Mas há algo inusitado quanto à rua: ela se encontra em um bairro nobre são-joseense, o Jardim Aristocrata. Tal fato é no mínimo ruidoso à filosofia de Rousseau, pois misturar a crítica iluminista do pensador com a aristocracia não parece fazer muito sentido. Chega a ser incoerente — mas, ao mesmo tempo, desafiador e necessário — que exista dentro de uma comunidade tirânica e egoísta alguém que lutou contra esses ideais e prefira atuar de forma a beneficiar a vontade geral.
Jean Jacques Rousseau, diferentemente de sua homônima de concreto e asfalto, não ocupava um lugar cômodo durante o século das luzes. Enquanto o caminho é bem localizado na cidade, ficando a menos de cinco minutos do Centro, o filósofo tinha um rumo diferente de seus iluminados companheiros, com ideias fora dos padrões e das críticas ensaísticas da sociedade de sua época.
No desembocar da rua principal para a Jean Jacques, em uma das primeiras casas, reside a matriarca da família Trevisan, Dona Jaci, uma mulher de feições sérias, mas que em poucos minutos se desmancha em um cálido sorriso, bem típico de uma avó carinhosa. A pequena senhora de menos de 1,60m, com cabelos curtos na altura no queixo, mora há 20 anos na rua e, ainda que a escolha da localização não tenha sido sua, ela demonstra gostar bastante do local. Seu rosto marcado pelo tempo é invadido pelas emoções das lembranças ao comentar sobre quem quis construir a casa nesse logradouro. Ela conta que foi seu falecido marido, mas que infelizmente ele só aproveitou a casa por oito anos. No entanto, suas memórias da região vão além de sua relação com o esposo, pois os grandes olhos castanhos de Jaci são iluminados ao lembrar de sua infância, quando morava nas redondezas de sua atual residência, onde seu pai, há muito tempo falecido, alimentava alguns dos animais da chácara da família Zaniolo. Ela busca rememorar: “Eu me lembro bem dele entrando naquele portão de madeira todo dia para tratar as vacas e as galinhas. Ele vinha até bem próximo de onde é a rua, porque era uma chácara grande”. A tranquilidade da rua, as memórias e o
O iluminista aristocrático 30
amor da família pela casa fizeram com que os filhos de Jaci construíssem suas casas ao lado da casa dos pais. Hoje a família ocupa mais da metade de uma quadra, assim eles sempre se encontram.
Enquanto isso, na outra ponta da rua, em um sobrado com muitas gavinhas e sebes, mora Elida Dalton e seu marido, Alex. Esse casal é apaixonado pela natureza e sonha em comprar um sítio quando ambos se aposentarem. No entanto, eles encontraram nessa rua uma proximidade com a natureza antes de realizarem seu objetivo de uma vida tranquila. Elida é assistente administrativa de uma escola municipal na região do Boqueirão e busca deixar em sua casa um conforto natural que se contrapõe à sua rotina caótica na cidade, desde as cores dos móveis e as paredes em tons terrosos, até os vários tipos de plantas espalhados pelo quintal e pela sala de estar. Porém, nos últimos anos, por conta da modernização do bairro, com muitas luzes agressivas à natureza, algumas espécies da fauna local vêm desaparecendo. Por isso a voz baixa e calma da pequena mulher de cabelos da cor do ébano se embarga de tristeza ao falar sobre essas mudanças. Ela se emociona ao lembrar que não vê mais esquilos, teiús, coelhos e sapos que habitavam o local e eram seus vizinhos há treze anos. Além de sua paixão pelo meio ambiente, Elida, que tem sede por conhecimento, algo que ela diz ter vindo de berço, ficou encantada com a temática dos nomes da rua do bairro. A moradora diz conhecê-las de cor para nunca se perder durante suas caminhadas diárias.
Da mesma forma que o genebrino não esteve sozinho atuando na filosofia política, a rua também é amparada por outras vias, com os nomes de outros questionadores do poder da nobreza, que o influenciaram ou foram influenciados por ele. Assim como um rio, e de certa forma parecida com a vida real, a rua Jean Jacques Rousseau é permeada por alguns afluentes diretos, como as ruas François Voltaire e Denis Diderot, além de se ligar paralelamente às John Locke, Arthur Schopenhauer e Immanuel Kant, de forma que esse conjunto aparenta ser um grupo de vias urbanas rebeldes e com uma nobre causa a ser conquistada: a liberdade, em todas as suas faces, sejam elas políticas ou individuais.
Giovana Bordini 31
É lamentável, entretanto, ver que o principal objetivo do movimento iluminista, o combate à ignorância, é praticamente caçoado com essas homenagens, porque devem servir para demonstrar uma imponência social, por meio de ruas com nomes “chiques” e esnobes.
O iluminista aristocrático 32
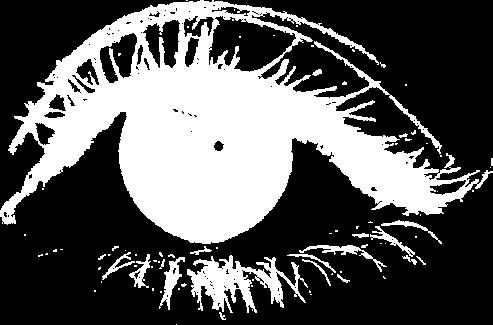
vida que ecoa
Juliane Capparelli

Em um dia nublado e chuvoso, com a temperatura em torno de 15° Celsius, nem o vento e o frio são capazes de gelar os gritos de empolgação. Aos poucos, as crianças vão chegando com os pais e formando uma fila única, à espera do horário de abertura do pequeno e enferrujado portão, que, sem escolher, escolhe quem pode entrar. Os pais ficam do lado de fora. Na fila, Joaquim, de poucas palavras, mas com grande 1,20m de altura, está de máscara, pois acordou com tosse. “Não gosto de usar máscara”, diz o menino. Mas o pai, o empresário Jean Rodrigo da Rocha, bem maior que o filho, com 1,80m, cabelos castanhos e olhos simpáticos, conta que Joaquim tinha o desejo de usar máscara nos dias anteriores, mas ao perceber que a maioria dos colegas de turma não as estavam utilizando, não quis mais. Tímido, o menino olha para o chão e fica perto do muro de palitos brancos e amarelos com sua mochila de rodinhas, como se quisesse se esconder em mais algum lugar, além da máscara de bichinhos coloridos que já encobria quase todo o seu rosto pequeno.
Juliane Capparelli 35
A maioria das crianças alinhadas para a entrada na Escola Municipal Miguel Krug não usa máscara, que deixou de ser obrigatória no dia 29/03/22, após pouco mais de dois anos de pandemia. Quando o portão se abre, às 13h15, elas entram uma a uma, após a medição de temperatura no pulso. E aquelas que estavam comportadas ao lado dos pais já não conseguem conter a agitação ao avistarem os demais colegas no ginásio aberto da escola, que abriga cerca de 430 alunos da educação infantil ao 5° ano do ensino fundamental. Os 30 professores se dividem pelas oito salas, que atendem 16 turmas, oito no período matutino e oito no período vespertino.
Com os rostos sem barreiras, as crianças pulam e se destacam em meio àquelas em que os gritos ainda são abafados e mais contidos pelas máscaras, como se estivessem tímidos para o mundo, mas aguardando o momento mais confortável para virem à tona. Quem não tem medo de gritar à vontade são os periquitos-verdes, que ocupam as árvores ao redor e fazem barulho junto das crianças, quase como se estivessem competindo para ser a melhor trilha sonora. Enquanto as crianças entram, 25 familiares as observam de longe, por detrás do muro, dividindo espaço com as goiabas, os maracujás e os limões que caem das árvores frutíferas.
Benjamin, de 6 anos, já não se esconde e, mesmo sem máscara, sorri também pelos olhos, como se não conseguisse segurar toda a energia que guarda em seu interior. Está ansioso para a aula, dando voltas em torno de si mesmo, com um espírito alegre e desbravador. A mãe e professora Yuneida de Garcia, de 43 anos, venezuelana com um português improvisado, usa um rabo de cavalo e óculos com armação preta. Veste uma blusa rosa com um tigre estampado, roupa que diz muito sobre ela. Segura as palavras soltas do menino falante, que deseja conversar sobre números na sua própria língua. A professora conta que o período em que o filho ficou afastado por causa da pandemia foi muito estressante e que agora Benjamin está fazendo terapia com uma psicóloga. “Não se sabe se ele tem um retraso no aprendizado, se foi pela misma pandemia ou por um assunto dele.”
Benjamin, simpático e falante, mais de castelhano do que português, dá vida a um hibisco rosa, girando-o entre os pequenos dedos enquanto conversa. Apesar de falar que tem dois amigos, faz o número três com as mãos, mas nos entendemos. Rosa e vibrante, a flor reflete a
Vida que ecoa 36
personalidade do menino que, sem máscara, nem se lembra do acessório que o impedia de expor toda a alegria de seu corpo de pouco mais de um metro. A flexibilização dos cuidados não fez diferença para o menino, que sempre tira a proteção do rosto, como conta a mãe com uma leve risada de quem não consegue controlar as travessuras de Benjamin.
O fim da obrigatoriedade do uso das máscaras em locais fechados representa os últimos pulos na amarelinha da Covid-19, mais perto do céu do que nunca. A quase declaração de vitória é bem diferente do cenário único em que o colégio Miguel Krug viveu há pouco tempo, sem vida, sem barulho e sem a presença de alegria. Até os periquitos-verdes, tão calorosos, entristeceram.
É o retorno da vida na esquina da Rua Alagoas com a Morretes. Vida que ecoa ainda mais quando o sinal da escola toca, avisando que está na hora de descobrir mais um pouco sobre o mundo. Os gritos infantis vão diminuindo e quando a última criança se dirige à sala de aula, o portão do ginásio é fechado com cadeado, dando espaço para os pássaros verdinhos que agora podem gritar sem concorrência.
Juliane Capparelli 37

Vida que ecoa 38
 Letícia Fortes Molina Morelli
sensação térmica: porrada
Letícia Fortes Molina Morelli
sensação térmica: porrada

Em uma noite fria e nebulosa, com os termômetros marcando 14ºC, as pessoas em situação de rua da Brigadeiro Franco, no centro de Curitiba, tiveram uma sensação térmica diferente. Subitamente, o chão gelado na esquina com a Avenida Sete de Setembro, no qual três dormiam em posição fetal, estremeceu com os passos intempestivos de cinco rapazes. Eles se aproximaram do local em dois veículos de luxo, por volta de meianoite: uma caminhonete Triton preta e uma BMW X3. De supetão, e sem a menor explicação, o frio penetrante que gelava os ossos dos corpos dos moradores de rua, através de seus finos cobertores e roupas gastas, foi substituído por uma dor física lancinante, que trouxe a sensação térmica de tortura, injustiça, violência e sangue.
A dor física foi provocada pela barbárie que os cinco rapazes cometeram. Desceram rapidamente dos carros e espancaram, com pedaços de pau mais grossos que cabos de vassoura, os três homens que dormiam
Letícia Fortes Molina Morelli 41
pacificamente desferindo golpes na cabeça e no estômago das vítimas. Os agressores gritavam: “Vão se foder, seus ‘preto imundo’!’’
Os gritos de prazer mórbido dos rapazes e os berros por socorro dos moradores de rua ecoaram estridentes na portaria do edifício 2.442. Porém, os mesmos sons que transtornaram o porteiro Izaías Alves e perturbaram o sono do policial Marcos Oliveira* e de sua esposa, moradores do quarto andar, não causaram um único sobressalto na equipe da Guarda Municipal da Praça Oswaldo Cruz — localizada a exatamente uma quadra de distância do local da barbárie.
O policial de cabelos loiros e 1,85m desceu do quarto andar e se aproximou da portaria. De rosto quadrado, olhos claros e nariz adunco, já avermelhado devido à irritação causada pelo clima frio, Marcos vestia calças jeans, chinelos pretos e um moletom preto, de capuz, com a insígnia do time italiano de futebol Milan bordada no lado direito do peito.
“Minha mulher viu tudo e depois foi dormir, mas eu decidi descer para dar uma olhadinha. Eu sei que os caras estão combinados com a polícia, mas esses playboys curitibocas chegaram direto na porrada no cara para quem eu compro e dou comida todos os dias, arrepiaram ele e mais duas pessoas.”
“Foi feio mesmo! Só o que apanhou primeiro conseguiu correr e sair na contramão dos caras, descendo aqui a Brigadeiro Franco. Não sei como ele aguentou, com as cacetadas na cabeça, na barriga…”, lamentouse Izaías, com a voz falhando. O porteiro, de 1,65m e cabelos grisalhos, vestia uma echarpe na cor preta, que aquecia seu curto pescoço, além de um sobretudo cinza para proteger seu corpo roliço do frio.
“Ah, é que ele já tem um DNA diferenciado, né? Desculpa, mas, enfim, ele já tem uma casquinha maior”, respondeu Marcos, ironicamente.
Duas das três vítimas foram jogadas como sacos de lixo no portamalas da caminhonete Triton preta e levadas para longe por três dos cinco rapazes, que subiram a rua e se camuflaram na neblina. Os outros dois agressores entraram na BMW X3, estacionaram em rente ao posto da Guarda Municipal e ali ficaram tranquilamente, pois não foram abordados para esclarecer o crime que cometeram.
Sensação térmica: porrada 42
Cerca de dez minutos depois, o morador de rua que conseguira fugir dos agressores retornou ao local e, vendo o movimento na portaria do prédio, gritou ao policial: “Ei, você viu?” Josué aproximou-se com passos claudicantes e olhar receoso, amedrontado. O homem de pele negra e cerca de 1,75m vestia um gorro preto com listras laranjas, calças pretas de tecido tactel e uma blusa de frio na cor azul-marinho, já bastante gasta e desbotada pelo uso. Nas costas arqueadas, carregava, após a agressão, o pouco que restou de seus pertences em um saco de lixo preto.
— Olha, não vi nada e não vou comprar a briga de ninguém, mas peço que se cuidem — disse o policial.
— Não, jamais, meu. Que é isso? Olha quanto tempo a gente já tá aí e nunca deu problema pra ninguém aqui. Senhor é policial, alguma coisa?
— Sou — respondeu Marcos.
Essa informação fez com que Josué, inconscientemente, paralisasse a fala e os movimentos do corpo por um breve momento, cessando até os espasmos corporais provocados pelo frio. Provavelmente, lembrou-se da omissão da Guarda Municipal, enquanto ele e seus colegas eram agredidos pouco tempo atrás, e temeu por uma reação agressiva por parte do policial à sua frente.
— Senhor, eu tô o dia inteiro deitado. Vou embora daqui, tô muito assustado — justificou-se, com a voz baixa e embargada.
Quando Josué virou a esquina, dirigindo-se à Avenida Sete de Setembro, uma viatura da Polícia Militar estacionou do outro lado da rua. Dois policiais saíram do carro e foram andando até as vítimas para colher seus depoimentos, antes de se dirigirem aos agressores. Segundo a assessoria de imprensa da PM, os envolvidos foram conduzidos à delegacia na mesma noite para serem interrogados e terem seus nomes registrados em um boletim de ocorrência.
Diante da cena, o porteiro Izaías se dirigiu novamente a Marcos: “Infelizmente, a corda sempre estoura pro lado mais fraco. Porque, veja, os caras que bateram nos homens ficam lá parados em frente à Guarda Municipal, como se nada tivesse acontecido, porque têm as costas quentes.”
Segundo a Prefeitura Municipal, Curitiba tem 2,7 mil moradores de rua. A maioria deles vive fugindo da própria sombra, assim como Josué.
Letícia Fortes Molina Morelli 43
Isso ocorre porque a mera presença de pessoas morando nos espaços públicos já é vista como pretexto para uma agressão gratuita.
Josué é o retrato dos moradores de rua de Curitiba, os quais são predominantemente homens brancos entre 30 e 59 anos de idade. Desses, 20% têm o ensino médio completo e 3,5% têm ensino superior incompleto ou completo. Segundo a Fundação de Assistência Social (FAS), as mulheres representam apenas 8% das pessoas em situação de rua.
De 2019 para 2021, o número de moradores de rua na capital paranaense saltou de 2,3 para 2,7 mil, representando um aumento de 15% em apenas dois anos. Além disso, dados do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) revelam que o número de famílias morando nas ruas de Curitiba também cresceu preocupantemente, saltando de 593 para 2.771 entre 2019 e 2021.
Em nota, a FAS afirma que fez 144.917 abordagens sociais a pessoas em situação de rua para distribuir alimentos e oferecer abrigo entre janeiro de 2017 a novembro de 2020. Em 2021, a FAS realizou 27.939 abordagens a moradores de rua. Esse número é quase a metade em relação a 2020, quando foram registradas 42.579 diligências.
Há porrada para todos os lados e, nessa guerra urbana, ninguém assume um lado. Nem mesmo o policial que ouviu Josué, mas não “comprou a briga de ninguém” nem quis se identificar. Até mesmo o poder público se omite de proteger a integridade física dessas pessoas. Até porque o próprio prefeito já afirmou ter quase vomitado com “cheiro de pobre”. Se essa rua fosse minha, eu baniria a injustiça, o espaço público destinado ao abandono.
*O nome do policial Marcos Oliveira é fictício, pois a fonte requisitou seu direito de não se identificar. A justificativa foi de que, mesmo sendo policial, ele estava à paisana.
Sensação térmica: porrada 44

no compasso do tempo
45
Maria Eduarda Souza
Maria Eduarda Souza

Na rua silenciosa e sem movimento de carros, ouvem-se apenas os latidos dos cachorros, interrompidos quase imediatamente quando o piano e o violino começam a tocar. O som dos instrumentos sai de uma casa de portão branco, com duas janelas que dão para a Rua Bona Busnello, no bairro Jardim das Américas, em Curitiba. Da calçada, é possível observar, através de uma das janelas, duas mulheres: uma está de pé e acompanha veemente a partitura com o violino em posição; e a outra se encontra sentada, tocando a mesma música no piano.
O interior da casa é aconchegante e extremamente organizado. O local de onde vem a música fica situado em um cômodo fechado, do lado esquerdo da sala. O espaço serve como um pequeno escritório, com uma mesa e um computador, e também, abriga um piano marrom e dois violinos. A moradia pertence à mulher que toca o piano, a professora de música Celina Molli Mayer, de 56 anos. Ela tem cabelos tingidos em tom de castanho escuro e se dedica, numa manhã de quinta-feira, a ensinar
Maria Eduarda Souza 47
Blank Space, canção da cantora norte-americana Taylor Swift, a sua aluna de violino, Andressa.
“Faltou um pedaço da música”, informa a professora movendo os dedos em direção à partitura. A aluna, com olhar arredio, aproxima-se do pequeno pedestal, forçando a vista para enxergar em que momento se perdeu e, então, fala percebendo o erro: “Opa, sem querer, pulei essa parte”.
Celina é formada em Administração, mas, por força do destino ou consequência da vida, a música falou mais alto. A curitibana teve seu primeiro contato com o piano aos 8 anos, no entanto interrompeu o aprendizado, retornando já adulta a ele em uma escola de música na cidade de Cascavel, oeste do Paraná.
Foi então que, por convite de sua professora, iniciou uma carreira na docência de música, especificamente ministrando aulas de piano.
Posteriormente, ela se dedicou a aprender a tocar violino para poder ensinar o instrumento a outras pessoas. Atualmente, já são 29 anos de profissão.
Hoje, a professora de música dá aulas particulares de violino e piano para dez alunos e alunas. As idades variam bastante: são cinco adultos cuja faixa etária é entre 28 e 62 anos; e cinco crianças que vão dos 6 aos 14 anos. Para dar uma aula por semana, Celina cobra R$ 315,00 mensais.
Uma de suas alunas é Andressa Honório da Silva. Ela tem 36 anos, cabelos curtos em tom loiro escuro, com 1,60m de altura, usa óculos e possui tom de voz rouco, mas ao mesmo tempo doce. A profissional de Educação Física sempre se interessou pelo violino. Devido ao contato com o balé na infância, a música clássica era presença marcante na sua rotina. Embora quisesse muito, não tinha condições financeiras para começar a aprender o instrumento quando criança.
Foi apenas aos 15 anos, em 2001, que pôde perseguir esse sonho. Embora tenha parado de fazer as aulas para trabalhar, ela conseguiu retornar à prática do instrumento em 2019 e, desde então, não parou mais. Ao falar sobre a música, Andressa esboça um sorriso no rosto: “Eu tenho ansiedade, mas tocar me traz muita calma, e quando eu toco, parece que não estou nem aqui”, afirma.
Certamente, a educadora não está sozinha. Grande parte dos adultos que aprendem um novo instrumento, percebe melhorias no
No compasso do tempo 48
cotidiano. Um estudo realizado pela plataforma de streaming Spotify, com 400 homens e mulheres, no Reino Unido em 2020, registrou que 89% dessas pessoas notaram impactos positivos em sua saúde mental após o contato com um instrumento musical. A principal sensação foi de relaxamento (56%), seguido de satisfação (48%) e paz (43%).
Esse misto de sensações também faz parte da rotina de Irene
Linkevicius de Andrade. A mulher de cabelos castanhos escuros e 62 anos mora ao lado de Celina, em uma casa ampla de um andar com paredes pintadas alternadamente de branco e marrom.
O local seria convidativo, não fossem os dois cachorros de porte médio que latem incessantemente ao detectar a presença de qualquer pessoa que ousa se aproximar do portão pontiagudo da casa. Os cães, no entanto, não interferem durante o aprendizado de Irene. Já faz quatro anos desde que ela começou a ter aulas particulares de violino com a vizinha.
Embora hoje fale com paixão do instrumento, confessa, de forma calma e reflexiva, que a experiência em 2020 e 2021, nos primórdios da pandemia, “foi tudo, menos fácil”. Irene recorda os momentos nos quais o contato com a professora se resumia a chamadas efêmeras de 60 minutos pela tela do computador.
As dificuldades no entanto não parecem limitar a aposentada, que já decidiu o próximo instrumento que irá aprender, a guitarra. Com uma visão positiva da vida, ela afirma que tocar violino é algo que a engrandece e descreve a experiência como “revigorante mas ao mesmo tempo desafiadora”.
Maria Eduarda Souza 49

No compasso do tempo 50
 Maria Luísa Cordeiro
mistério do Parque Bacacheri
Maria Luísa Cordeiro
mistério do Parque Bacacheri

— É um alienígena! Certeza! — falou o senhor de meia-idade já cansado do passeio. Sua esposa ri baixinho, olha para ele:
— Tô falando sério!
— Eu também tô falando sério. Um alienígena que trouxe isso.
O casal conversa em meio a risadas, enquanto a filha sobe, deita e rola sobre o tecido rígido. A menina, que não deve passar dos seus 10 anos, com roupinha branca e rosa, escala o monte e se prepara para a foto. Ela se diverte como se estivesse em um monumento famoso e ela fosse a atração principal.
Uma outra senhora de cabelos loiros e cílios alongados afirma que realmente “aquilo” surgiu do nada, mas que deve ser apenas capim guardado. Um homem, que passeava pela região, aproveita da situação para brincar:
— Isso aí só pode ser uma anaconda gigante esperando para ser acordada, ou pior: são os aliens de Guerra dos Mundos já dando sinais de vida.
Maria Luísa Cordeiro 53
Outra mulher contribui dizendo que devem ser silos ou espaços para biodigestores.
As teorias da conspiração são comuns desde que o mundo é mundo. Ideias de que pirâmides são construídas por alienígenas são temas de lendas há séculos. Mas essa louca imaginação não é exclusividade de espaços internacionais. Aqui em Curitiba, sacos marrons gigantes chamam a atenção dos pedestres no Parque Bacacheri.
A estrutura é coberta por uma lona marrom, dura, com aproximadamente 180m² na qual está escrito SOILTRIN INN. Em volta, quase como uma proteção à la Indiana Jones, formigas pretas e minúsculas, com suas picadas ardidas e assustadoras, fazem uma rede de segurança. Mas isso não é obstáculo para que aquela estrutura misteriosa vire pista de corrida para as crianças, ou assento para três jovens conversarem ao entardecer.
O Parque General Iberê de Matos é uma homenagem ao prefeito de Curitiba entre os anos de 1958 e 1962. No entanto, é mais conhecido como Parque Bacacheri, relativo ao bairro formado em 1869 por imigrantes franceses. A origem do nome é incerta. A hipótese mais aceita é a de que um francês que vivia na região acabou perdendo a tal Chèrie, sua vaca de estimação. Em busca de seu querido animal, o homem passou a perguntar se alguém viu sua “Vaca Chèrie”. Por conta do sotaque forte, os moradores da região entenderam “baca cheri”, e não demorou muito para o nome pegar.
O portal do parque é construído com referências a pirâmides de concreto e arcos de ferro colorido para simbolizar a entrada no paraíso com base nos bons fluidos das construções egípcias e na alegria que existe ali. A entrada mágica apresenta um espaço misterioso.
E, no feriado de Sexta-feira Santa, os mais de 152 mil m² de área verde pareceram pequenos para a quantidade de famílias passeando ali. Na frente da entrada lateral, duas meninas, com no máximo 8 anos, chinelos rosa nos dedos e cabelos presos em rabo de cavalo seguram suas pipas à espera do mínimo sinal de vento para saírem correndo.
Famílias inteiras em piqueniques para aproveitar, depois de tanto tempo, o ar livre sem máscaras. O cachorro preto com barriguinha branca consegue fugir da coleira e avança sobre os jovens jogando vôlei. Querendo participar da brincadeira, ele abocanha a bola colorida e sai correndo em
Parque Bacacheri
Mistério do parque bacacheri 54
direção ao outro lado. Enquanto suas patinhas sentem a liberdade, ele é perseguido pela senhora que segura o copo de cerveja na mão. A raposa, camuflada de cachorro, passeia com os donos, cruzando a calçada de cimento que corta o parque. Do outro lado vem Ted, o shih-tzu de pelagem branca e marrom.
Um grupo de sete jovens não param de caminhar. Uma menina de cabelos cor de cereja, cropped branco e shorts jeans, que aparenta ter entre 15 e 16 anos, fuma seu cigarro eletrônico. Sua colega, de cabelo escorrido preto e camiseta branca, joga charme para os 5 meninos que as acompanham.
Com o fim do dia chegando, o casal de idosos, que toca a barraquinha de cana-de-açúcar, já parecem cansados. A fila começa a aumentar. Crianças esperam sua vez com o dinheirinho contado em mãos à espera de uma bebida doce geladinha. Uma pena, porque já acabaram os insumos. Do lado de dentro do parque, à esquerda do carro da Polícia Militar, o senhor espera sentado seus fregueses na barraquinha de bolas coloridas, bambolês e, claro, algodão-doce.
Cheio, o barzinho vende cervejas e petiscos na tentativa de refrescar a sensação térmica altíssima, mesmo que os termômetros marquem apenas 20ºC. E, nesse ar bucólico de tranquilidade e paz, aquela estrutura estranha parece não fazer sentido naquele espaço.
Ao lado do Rio Bacacheri, em um caminho direcionado para a saída lateral do parque, de pouco acesso, e até meio escondido pela floresta que ali cerca, a montanha marrom chama a atenção dos pedestres.
Mas como em Aventuras de Pi, a história verdadeira nem sempre é tão emocionante como aquelas criadas pelas mentes de seus visitantes. Em 2019 e 2020, o parque passou por um processo de dragagem para evitar enchentes. Nesse período, os parques São Lourenço e Barigui passaram pelo mesmo procedimento. A limpeza originalmente previa o valor de R $ 3 milhões, podendo chegar, até o final do contrato em 2023, a R $ 12 milhões.
Nessa obra foram retirados materiais orgânicos depositados no fundo do rio, permitindo que haja maior capacidade de retenção das chuvas, além de melhorar a qualidade da água. Somente no Parque São Lourenço, 40 mil metros quadrados de lodo já foram retirados. Uma parte desse material fica separado e exposto para secar. Outra metade é utilizada em redes de contenção do rio.
Maria Luísa Cordeiro 55
Mas qual história parece mais interessante? Cada turista escolhe aquela que satisfaz melhor sua curiosidade. O que se sabe é que certamente as folhagens, a areia e a terra permanecerão guardados para brincar com a imaginação.
Mistério do parque bacacheri 56
Parque Bacacheri

Paula Braga Goveia o que são os que julgam?

Em frente ao conhecido hotelzinho da Avenida Visconde de Guarapuava, na região central de Curitiba, Camila Hornung estava posicionada de forma a anular qualquer possibilidade de negação dos homens de carne fraca que cruzavam aquela calçada. De fato, seu corpo de curvas realçadas por uma roupa bem justa instigava o imediato desejo.
Mesmo evidenciado por um decote generoso, o belo W não é o que mais chama a atenção em Camila, mas sim o sorriso aberto que, de tão amplo, entrega por si só a bagagem profunda dessa mulher.
Com 43 anos, a garota de programa carrega não só a imensurável dor de ter sido abusada pelo pai aos 8 anos, como a de ser expulsa de casa pela própria mãe. Mesmo não passando de uma criança fragilizada, Camila ainda teve de ouvir, daquela que acreditava ser o seu apoio, que estava acabando com o casamento dos dois.
“Por vários momentos, eu pensei que merecia estar na rua, e eu não tinha mais nada a perder, nem mesmo a minha virgindade.”
Uma menina obrigada a pecar que não teve outra opção a não ser enfrentar suas sombras cara a cara diariamente. Hoje, sem modéstia ou bondade alguma, declara com orgulho que é a puta mais esperta da cidade.
Camila passou por incontáveis lugares e ouviu diversos relatos que se aproximam do seu, e, talvez, tenha compreendido, da forma mais cruel, que
Paula Braga Goveia 59
é legítima a porcentagem dada pela pesquisa Prostitution is Sexual Violence, publicada pela revista Psychiatric Time, de que 65% a 95% das pessoas em prostituição sofreram abuso sexual quando crianças.
Assim como Camila, Márcia Figueiredo e Patrícia Amaral não sabem falar sobre quem são sem dizer como suas famílias direcionaram os caminhos que as fizeram chegar a esta avenida no coração da cidade. Márcia foi criada pela avó analfabeta, incapaz de dar qualquer instrução à neta que fosse diferente da sua e encontrar uma maneira para sobreviver. Depois de tanto tempo nas ruas, ela aprendeu apenas a assinar seu nome e fazer contas com o dinheiro que recebe sendo uma “mulher da vida”. Aos 62 anos, com marcadas linhas faciais que expressam suas vivências, já não é mais chamada de garota, está mais para “senhora de programa”. Mas isso não anula sua capacidade de satisfazer aqueles que a escolhem.
“Acabei na rua por não ter quem me colocasse na escola, mas tudo o que eu fiz até hoje foi para ver as minhas filhas em um rumo diferente do meu.”
É desconcertante ver como as escolhas, ou não escolhas, dessas mulheres são coincidentemente guiadas pelas ações que partem daqueles que deveriam ser responsáveis por um trilhar seguro para elas. Márcia afirma, com firmeza, que não aceita “coisa à toa”, e que tem o seu valor de corte.
Em um cenário onde pensar em valorização deixou de ser algo adequado, Márcia diz: “Por menos de 70 reais eu não faço”. Ela ainda confessa que, mesmo sendo velha, não deixou de sonhar com uma vida melhor e, no fundo, consegue sentir esperança quando suplica a Deus para tirá-la dessa condição.
Patrícia, considerada a “novinha’’ da área, com os seus 36 anos, esbanja disposição e alegria por conseguir, em um dia, metade do salário conquistado em um mês pelos trabalhadores formais. A menina-mulher, de pele branca e de pequenas sardas nas maçãs do rosto arredondado, tem uma voz tão angelical, doce e suave que quem a escuta de olhos fechados só consegue imaginar pureza. Mas, ao abrir, percebe que existe nela, na verdade, uma crosta de prazeres imundos de uma cadeia consensual, capaz de manter oculta toda a infelicidade que a ronda.
O que são os que julgam? 60
Ela foi mãe muito nova, mas, conforme suas próprias palavras, não tão nova quanto a mãe, que engravidou aos 15 anos. Patrícia, ao contrário de Camila e Márcia, não sente vergonha ou repúdio por estar onde está nem tem problema em dizer que se pudesse escolher entre trabalhar oito horas por dia, recebendo pouco por isso, e se prostituir para ganhar o que ganha, continuaria da mesma maneira.
“Eu não tenho nojo de nada, diria que tenho o sangue frio que uma mulher nessa situação precisa ter, então não ligo, penso que estou destinada a isso e simplesmente aceito.”
Com o que recebe suprindo vontades alheias, Patrícia paga a pensão de duas filhas e consegue viver bem, bancar o aluguel, comprar roupas novas e até perfumes para ficar mais atraente. Assim, ela diz estar satisfeita também, e o que importa é contribuir para o crescimento das suas meninas.
O pesar dessas inúmeras mulheres representadas por Camila, Márcia e Patrícia não cabe em frases feitas nem mesmo caberia em livros inteiros. Aquilo que cada uma delas carrega jamais será compreendido pelos olhos arbitrários dos que as renegam como semelhantes, ou como pessoas dignas de respeito.
O que sustentam para poder julgar?
“Quando eu entro por essa porta, nem mesmo Deus sabe o que eu sinto.” Com a frase de Camila, fica claro que coisa alguma, existente ou irreal, será o bastante para transpassar o sentimento dessas almas femininas obscuras, que seguem escondidas nesses gastos corpos, vistos por tantos como desmoralizados.
Paula Braga Goveia 61

O que são os que julgam? 62
 Tiago Carraro ponto final
Tiago Carraro ponto final

Em Curitiba, todos os dias, mais de mil ônibus fazem suas linhas, mas apenas dois deles fazem a linha Savóia, cujo ponto final fica na Rua Hermenegildo Luca, no bairro São Braz. Lá há um banquinho de madeira em três cores — preto, amarelo e bege, todas desbotadas pelo tempo —, coberto por uma estrutura metálica parecida com dois guarda-sóis, lado a lado, aguardando os passageiros que, depois de 38 paradas, ali desembarcam.
Há passageiros de todos os tipos, gêneros e idades. Pessoas que não saem do WhatsApp, e pessoas que nem WhatsApp têm, gente como João. Um jovem pai de família que sobrevive como ajudante de pedreiro. Após o expediente, o rapaz aguarda 27 minutos pelo ônibus amarelo que o leva ao simpático ponto. Já exaurido de seu desgastante ofício, o homem ainda caminha mais 30 minutos por pontes, ruas sem calçada, algumas até mesmo sem asfalto. Tudo isso para que, finalmente, possa chegar em casa e pegar sua tão amada filha no colo. Mesmo nos momentos destinados a relaxar, seja passeando com seu bebê e sua esposa, ou indo ao Centro para comer um hamburguer, a linha Savóia continua sendo a principal forma de locomoção de João, que todos os dias espera pacientemente chegar ao último ponto dela.
No comando do ônibus que transporta João e tantos outros está Ronie, homem de 40 anos que engana a idade, parecendo ser mais jovem
Tiago Carraro 65
do que realmente é. O motorista mora sozinho em Colombo e, devido à distância de casa até o trabalho, precisa ir de carona até o terminal do bairro Santa Cândida, onde pega o ônibus Ligeirão até o Centro de Curitiba. O trajeto inteiro leva em torno de 45 minutos. No comando do ônibus, o homem trabalha das 10h55 às 16h45, um trabalho que Ronie diz amar: “Gosto de ser motorista porque sempre gostei de dirigir. Vou completar 21 anos de empresa. Comecei como cobrador e passei para motorista. Foram cinco anos como cobrador e, como motorista, já estou há 16 anos. Gosto do que faço…”, conta. Após o fim do turno, o trabalhador retorna a sua casa. Apesar de morar sozinho, o simpático homem recebe visitas frequentes da filha, uma menina de 11 anos que mora com a mãe. Essas visitas são aproveitadas ao máximo. Ronie também aproveita o tempo livre para festejar: “Folga sempre tem fervo” é a frase dita, em meio a risadas.
Diferentemente de Ronie e João, que estão no ônibus quase todos os dias, Isabella só pegou o ônibus uma vez. A jovem de cabelos roxos e de descendência japonesa estava indo para a casa do namorado, que mora a 30 minutos do ponto, e ficou chocada ao perceber que o ônibus não tinha cobrador. Então relatou: “O único jeito de passar era com o cartão URBS. Ainda bem que o meu tá carregado.” Dentro do ônibus, outra surpresa: assentos e mais assentos livres. Uma visão muito diferente para a jovem de 18 anos, que está habituada ao lotado Vermelhão, como os ônibus expressos em Curitiba são chamados. “Fiquei impressionada como o Savoia é vazio. Geralmente, pego ônibus cheios e fico em pé toda espremida, mas nesse caso até pude escolher onde eu queria sentar de tão vazio que estava. Passei o trajeto inteiro sentada, olhando pela janela.”
Mesmo estando longe de ser o mais movimentado ou o mais bonito, o rústico ponto final da Hermenegildo Luca tem um charme único que o torna tão especial para pessoas como Isabella, Ronie, João e muitas outras que todos os dias passam por esse simples banco de madeira coberto por dois guarda-sóis. Caminhos cotidianos, palmilhados anos a fio, quando se desenvolvem rotinas de reconhecimento e pertencimento. Visíveis e invisíveis. Os lugares e as pessoas. O eu e o outro se fundem e se perdem na cidade.
Ponto final 66

vidas sem saídas
Vinicius Bittencourt ruas e

Em uma tarde ensolarada de outono em que os cronômetros marcam 20°C, os trabalhadores da rua sem saída Lindolfo Pessoa, seguem com suas desafiadoras rotinas, diante do impetuoso cenário socioeconômico brasileiro.
“Sabe qual é o problema? É a crise do salário-mínimo. Todas as coisas sobem, menos o nosso salário”, exclamou Pedro Cândido, o servente de obra de uma lanchonete da rua, localizada no Bairro Seminário. Na ausência de alguns dentes incisivos, lhe sobraram muito carisma e bom humor, frente às situações sinuosas do dia a dia. Com um boné sobre a cabeça, uma calça manchada de tinta e mãos calejadas por aquilo que a vida já lhe impôs, o homem, de 1,68m e 60 anos, faz duras críticas ao governo atual, enquanto cita mandatos anteriores, remetendo-se a tempos melhores.
“Não consigo nem mais comer uma carne! Até o ovo, que é comida pro pobre comer, o preço tá lá em cima”, diz Pedro, em meio a risadas, como se achasse graça da situação, ao mesmo tempo que retira seu boné para coçar a cabeça com os poucos fios de cabelo que ainda lhe restam. Então, ele aponta o seu carro, que um dia já foi “possante”, que acaba de sair da oficina e é responsável por trazê-lo de São José dos Pinhais todos os dias. Tomou essa medida na esperança de encontrar, em seu trabalho na rua sem saída, uma saída para o alto preço da gasolina.
Vinicius Bittencourt 69

“A gente vai levando como dá, mas não sei onde vamos parar”, desabafa o senhor, em um tom mais pesado do que nas outras vezes. Assim, para dar continuidade à labuta, ele se despede com um aperto de mão corajoso e com o marcante sorriso incompleto, que lhe é habitual.
O que mal sabe Pedro Cândido é que as situações descritas por ele, na simplicidade de sua vivência, são um perfeito exemplo de como a inflação vem afetando os moradores de Curitiba. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade registrou, em 2021, a maior inflação entre todas as capitais brasileiras, com alta de 12,73% nos preços de produtos e serviços
No final da Rua Lindolfo Pessoa, é inevitável não se deparar com o edifício Giardino D’Itália, que serve como o último ponto de referência aos motoristas desavisados. No decorrer da tarde, em meio às escadarias pouco habitadas do sexto andar do prédio, um local silencioso e apertado, encontra-se a servente de limpeza Cleonice Rendak, uma morena de 52 anos que critica a alta de preços dos produtos.
“A gente tem que ir fazendo bico onde aparece para sobreviver, mas com a idade, isso já fica mais difícil”, reclama ela, com um olhar de preocupação e um pequeno riso nervoso na face, quase como reflexo. As grandes olheiras sob seus olhos escuros não deixam esconder o desgaste de uma rotina incessante que começa às 5h40 e só termina às 20h. Com a necessidade de se deslocar de ônibus todos os dias, ela encontra, no aumento do preço da passagem, um destino indesejado para o seu já contado dinheiro de fim de mês. O valor de R $ 5,50 é, segundo o IBGE, resultado da alta de 52,98% nos preços dos combustíveis em Curitiba, no ano de 2021.
“Não tem pra onde correr mais, tá tudo muito caro”, suspira Cleonice, lançando um olhar nervoso para o relógio de seu celular: hora de voltar ao trabalho. De frente para o ponto onde a rua termina, o porteiro Rogério Reimão tem sua cabine de trabalho transformada em camarote, ao presenciar ocasiões nas quais motoristas freiam quando percebem que não há como seguir adiante. Por isso, ao chegar para trabalhar todos os dias, Rogério diz que recorre ao seu crucifixo pendurado no pescoço e reza para que sua vida e as de seus companheiros tenham saída. Em verdade, não há solução nem saída. O que há é o caminho e nele caminhamos em direção às respostas.





Ruas e vidas sem saídas 70









































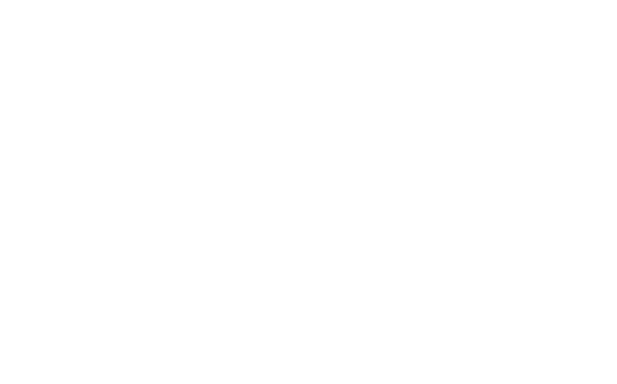














perfis
 Eduardo Veiga Nogueira
vai na boleia
Eduardo Veiga Nogueira
vai na boleia

Goura Nataraj está à espera de um guincho para sua perua. Uma kombi branca não deveria atrasar um cicloativista notório, mas, de qualquer forma, a entrevista precisou ser adiada. Era novembro de 2021. A preocupação de Jorge Brand – seu nome de registro – e de parte considerável dos 23 membros do Mandato Goura era a discussão do orçamento do Governo do Paraná, destinada ao setor cultural. Mas o guincho ainda não havia chegado, então, a pauta que esperasse. Já era a segunda vez em menos de uma semana que o veículo dava problemas.
Já deputado estadual, Goura alugou a kombi para uso da equipe durante a disputa à Prefeitura de Curitiba nas eleições de 2020. Gostou tanto que negociou aquele pão de forma motorizado com o dono e o levou para casa por R $ 15 mil, dessa vez, para uso próprio. Descem os assessores de campanha, sobem as filhas: Sofia e Tulasi Ananda, 13 e 10 anos, não raramente vão para a escola na fria kombi do pai. Fica também o convite a quem estiver passando pelo Centro Cívico e resolver conferir de perto: dificilmente haverá outra perua no pátio da ALEP.
Um ano, alguns meses e diversos dedos de mecânico depois, a atividade parlamentar do Goura, hoje com 42 anos de existência, é anunciada
Eduardo Veiga Nogueira 75
no broche dourado preso ao peito. Vê-se a Assembleia Legislativa do Paraná em tons reluzentes, luminosos. Quase incandescentes, como na lembrança mais remota que Goura carrega do lugar.
Em 10 de setembro de 1994, dois dos três andares do então prédio da ALEP foram destruídos por um incêndio. A fagulha de um computador que provavelmente causou o acidente também alcançou os olhos e os batimentos de Jorge. Excessivamente guri. Excessivamente anarquista. O adolescente, que voltava de bicicleta da casa do amigo e futuro artista plástico, Juan Parada, deparou-se com o parlamento paranaense em chamas.
Ele para a magrela e senta no gramadão que dá cor à Praça Nossa Senhora de Salete. Fica entorpecido com a cena. Sentimento catártico, em um menino fisgado e capturado pelo hardcore dos colégios privados Bom Jesus e Dom Bosco, onde estudava nesse período. Considerando o garoto de 14 anos que era, sem convicções claras sobre o que pensar de engravatados burocratas e ainda abastecido das mensagens agressivas dos Dead Kennedys (banda até hoje tida como uma referência), que poderiam muito bem compor a soundtrack daquele plano-sequência, é possível imaginar o efeito hipnótico que o incêndio exerceu sobre a mente de Jorge. No mesmo ano de 1994, a sensação explosiva se repetiu no jovem: hormônios à flor da pele em uma roda punk, embalada pelo destrutivo som dos Ratos de Porão. Foi o primeiro show de sua vida, com porradas e hematomas. Mas a partir disso, não houve uma postura incendiária ou rebelada. O hardcore era apenas uma reação. As ideias sobre vida e política ainda precisavam de amadurecimento. A morte do avô, em 1996, foi decisiva para a busca pela cultura da paz. Também para que fosse batizado – sem nenhum catolicismo empregado – como Goura, na Índia, em viagem realizada no ano seguinte ao lado de 20 monges. O legado da yoga, do sânscrito e de boa parte do Oriente é visível até no semblante calmo e solitário do deputado, mesmo quando escapa um raro palavrão. Ele admite, inclusive, sempre ter trabalhado sua solidão e mesmo conseguido admirá-la. Sente-se bem sozinho. Talvez seja por isso que, para tentar driblar a “falação” do plenário e as cobranças para estar em exposições de arte, o badalado Goura capricha em partidas de basquete bem disputadas e fugas reservadas.
Vai na boleia 76
Interrompendo a conversa, um assessor de imprensa, com um aparente incômodo, insiste em acompanhá-lo numa atividade da agenda, mas é freado pelas palavras em inglês lançadas com certo maneirismo pelo chefe. Um garotão floresce naquele vocabulário plural.
Se já despende um olhar torto aos discursos de alguns colegas legisladores, imagine no Twitter. Reduz a comunicação como pode, deixando de lado os trending topics e outros demônios. Goura quer ficar bem longe dos debates que por lá circulam. Um dos bunkers metafísicos nos quais se abriga para garantir sossego tem um alqueire de tamanho e, por anos, não teve nada de energia elétrica. Há 16 anos, junto do irmão, Goura comprou um terreno em Quatro Barras, Região Metropolitana de Curitiba. É lá que ele pode, tal qual um hippie deslocado no tempo e no espaço, assistir ao pôr do sol. Sem julgamentos, sem emendas.
Quarta-feira, 9h da manhã. A chegada do líder do Partido Democrático Trabalhista (PDT) não é anunciada pelos corredores da ALEP. Ao contrário dos sapatos de outros deputados, o par de tênis New Balance calçado por Goura não avisa os presentes que ele está próximo. Com o jeans azulado e o blazer felpudo, uma combinação desalinhada à primeira vista, passa a impressão de que o sujeito ainda está se encaixando na etiqueta dos políticos. No quarto ano como parlamentar estadual, e com dois de vereador em Curitiba para somar à conta, a vestimenta não é sinal de inocência. Talvez seja de revelia, contracultura. As votações da manhã encerram. O plenário, muito apressado, se vai. E por isso, Goura se separa dos outros 52 membros da casa. A partir de agora, dirige a palavra a seguranças e profissionais da limpeza com quem cruza o caminho. O único parlamentar a cumprimentar cada pessoa que passa pelos sofazinhos da Assembleia.
Uma das jornalistas que trabalha na ALEP se aproxima e lamenta os dias contados de Goura por aqueles corredores. Outubro chegando, campanhas eleitorais se ouriçando. Ela presume e admite com a maior franqueza que Goura vai tentar cavar um assento em Brasília. Desmentindo, o deputado diz preferir esperar, amadurecer, ficar pela terra do pinhão e, quem sabe, tentar a prefeitura de Curitiba em 2024 de novo.
Eduardo Veiga Nogueira 77
Seria fácil pensar na pré-candidatura a deputado federal. Afinal, como poucos, Goura Nataraj conserva uma militância considerável e ganhou projeção em 2020 ao falar de “cidade saudável” e outros termos cativantes.
Empolga jovens com pautas de meio ambiente e direitos humanos. No entanto, ele ainda tem tantos livros de Guimarães Rosa para ler! A biblioteca dos pais Jaques Brand e Margarida de Oliveira está só no início. Aos poucos, tenta satisfazer a mãe, ao ler Memórias de Adriano, romance da belga Marguerite Yourcenar. Até lá, há muito para aprender e amadurecer, antes de almejar.
Pode ser que o relógio de Goura Nataraj, de fato, seja outro. Talvez ele ainda tenha muito a mostrar, como ele próprio sinaliza com entusiasmo. Mas é preciso diminuir a velocidade, reduzir o tempo de uso das redes sociais e descalçar os sapatos. A serenidade talvez seja parte indissociável do homem Goura, não só do político. E por isso, vai ser preciso esperar ainda um tanto. Para a frustração do reacinha enfurecido e para o êxtase descabido do hipster progressista, Goura diz nas entrelinhas: “Acalmem-se, o guincho ainda não chegou”.
Vai na boleia 78

gênese, apocalipse, ressurreição
Felipe Worliczeck Martins

Não é gato, mas já teve mais de uma vida. Na verdade, se chama Kandondo, um pequeno rato comum na Angola, onde cresceu. Seu nome de batismo, Santareno Augusto Miranda, carrega uma mentira, pois o homem nasceu a mais de 6.200 km da cidade de Santarém, que dá origem ao nome. Professor, doutorando e pastor da Igreja Menonita Nova Aliança, Santareno gosta de dizer que já passou pelo céu e pelo inferno.
Hoje, ele vive em Curitiba, oitava cidade mais populosa do Brasil. Nem sempre foi assim, pois, quando criança, assustava-se ao ver um filme, e chamava lâmpadas de “filhos do sol”. Saiu da sua aldeia para buscar as duas coisas que o movem até hoje: a fé e o estudo. Das inúmeras experiências de vida, nunca esqueceu de dois nomes que o transformaram: Madalena e Tereza. A primeira criou uma escola missionária em sua aldeia, e a outra ensinou-o a escrever.
Veio para o Brasil após ler uma revista que ele encontrou no lixo, falando de uma escola em Maringá, a mais de 7 mil quilômetros de Angola. A distância, porém, não foi o suficiente para apagar seu espírito estudioso.
Anos antes, foi levado pelos soviéticos para a Guerra Civil Angolana, a que chamavam de rusga, na qual tiravam jovens de suas casas
Felipe Worliczeck Martins 81
à força. Fugiu do campo de treinamento, mas não adiantou. Nessa história, Davi não derrota Golias.
Iniciou-se seu épico dantesco.
A Guerra Civil Angolana é mais uma das várias guerras orquestradas durante a Guerra Fria, com forte influência externa. Os soviéticos apoiavam o Movimento Popular de Libertação da Angola (MPLA), que governa o país até hoje. Estados Unidos, África do Sul e outras nações capitalistas apoiavam a UNITA e a FNLA. Até o Brasil “dançou” sobre a pista de corpos negros, mutilados e mortos pela guerra, na qual a música é o som monotônico das balas, lucrando com a venda de minas e munições. Quando dois elefantes brigam, quem sofre é o capim¹.
Diziam para Santareno que a guerra era contra o Imperialismo Norte-Americano, mas na verdade eram só angolanos matando angolanos. “Dezenove mil jovens morreram naquele dia. Defenderam o quê?”, diz ele hoje, falando sobre a carnificina que levou Angola para o mais sangrento conflito do continente, com 500 mil mortos confirmados.
Depois de ter sido capturado pela segunda vez, foi levado pelos cubanos para a Octagésima Quinta Brigada do Exército da Frente Leste, batalhão de tanques. Sabia manusear os lançadores de mísseis C-1M, IGLA e a famigerada Kalashnikov, também conhecida como AK-47. De tanto atirá-la, a guarda-mão pegava fogo e deixava bolhas nas mãos de quem a segurava, mesmo a guerra sendo fria. Quando chovia, nem direito ao abrigo tinha, pois a fumaça que saía do cano da arma poderia mostrar seu paradeiro. Matava para viver, ou sobreviver. A última coisa que lhe restava depois de qualquer confronto, porém, era a humanidade. Muitos mutilavam o corpo, atirando nos próprios joelhos, para serem dispensados. No entanto, o que foi mutilado nessa época foi seu espírito, chegando a duvidar da sua fé, que hoje se tornou forte como o aço que revestia os tanques de seu quartel. No meio dos corpos de amigos em decomposição entre a relva, um réquiem sacro tocava cada vez mais baixo em sua cabeça, e pensava se morrer seria a solução.
Só sobreviveu porque ativou uma mina terrestre. Ao capotar do carro em que estava após tê-la atingido, viu seu pé fraturado, na posição
¹ Provérbio africano.
Gênese, apocalipse, ressurreição 82
invertida, e sentiu alívio, não dor, quando pensou que poderia ser amputado. Finalmente sairia da guerra. Ficou três dias naquele estado até receber ajuda.
Hoje, a única arma que carrega é o giz, e não o fuzil ou o arco. Seu alvo não é mais a cara de Ronald Reagan, ex-presidente norte-americano, usado nos centros de treinamento cubanos, ou os animais que caçava para comer quando jovem, mas sim a ignorância, cada vez mais presente na sociedade. Passa o dia em uma escola franciscana, depois atua em um colégio cristão, faz doutorado em uma instituição pontifícia e arranja tempo para a Igreja Menonita. Aliando a fé ao conhecimento, chegou onde Madalena, aquela que deu o primeiro pontapé em sua carreira acadêmica, nunca imaginou que ele chegaria.
“Ela viu algo em mim que eu mesmo não via”, diz o pastor, complementando que perceber o potencial não explorado no aluno é o cerne do que é ser professor. O rapaz que sofreu bullying em Angola por não saber escrever português rápido o suficiente agora possui um dos mais extensos currículos acadêmicos.
“Qual o sentido de ele sair de Angola, vir para o Brasil dar uma aula de Formação Humana se ele não quer mudar o mundo?”, questiona Henrique Carrilho, ex-aluno de Santareno. Ao pegar aquela revista no lixo, dedicada às traças e ao aterro, Santareno começou o processo de resgatar sua humanidade, que havia se esvaído no primeiro momento em que ele apertou o gatilho.
Para ele, na história bíblica, a maçã não era proibida, pois continha o conhecimento, mas pelo fato de que Adão e Eva decidiram comê-la por inteiro, ao invés de semeá-la no Jardim de Éden. Com seu jeito alegre e fala carismática, Santareno é um pregador singular. Quem atesta isso é Isabelle Almeida, que frequenta a Igreja Menonita. Deus já conhecia o angolano antes da formação do mundo².
Agora no Brasil, mais perto de Cuba do que nunca, não se sente totalmente em casa. Foi realmente feliz na aldeia, ele diz, quando fugia de uma circuncisão ou roubava uma capivara para comer. Tentará, no fim deste ano, fazer uma expedição com um grupo de médicos para o país.
“Nós não podemos desvincular aquilo que nós somos daquilo que nós fomos”, diz Cornélio Schwambach, professor que leciona aulas com o ² Alusão a Referência bíblica a Jeremias 1:5.
Felipe Worliczeck Martins 83
angolano. Ambos fazem palestras pelo país, e Cornélio tem um truque: pede para ser o primeiro a apresentar, pois as pessoas, depois de conhecerem Santareno, não veriam o seu brilho.
Santareno é, além de angolano, brasileiríssimo: usa boné de time de futebol e ama ir à praia, um costume que mantém desde a primeira vez que a viu no país natal. Reserva um dia da semana para a família, a mando da filha. Depois de toda sua epopeia, as coisas que permaneceram foram as mais cotidianas.
Santareno pode ter saído de Angola, mas Angola nunca saiu de Santareno. Em uma de suas idas para o país natal, o professor esperava muitas lembranças de lá, mas não no embarque. Tereza, a professora que lhe ensinou os caminhos tortuosos da língua portuguesa quando ninguém tinha paciência, e reconheceu-o enquanto pegava um avião. Não precisava dizer mais nada: naquele momento, Santareno virou um garoto novamente.
Chegando à aldeia em uma de suas viagens, seu pai lhe disse o que precisava ouvir:
— Você está dividido entre Brasil e Angola, e não pode ser assim, mona³ .
Durante sua gênese, apocalipse e ressurreição, Santareno, ou Kandondo, ainda tinha coisas a aprender, pelo jeito. Agora, sonha em voltar para a Angola, e fazer com que outros estudem o que ele estudou, visitando passado, presente e futuro por meio de páginas empoeiradas em uma biblioteca qualquer.
³ Filho no dialeto kimbundu.
Gênese, apocalipse, ressurreição 84
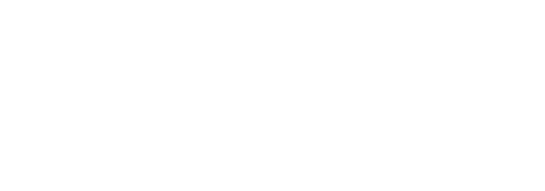
folclore das ruas
Guilherme Araki

Conhecido mesmo sem ser visto, Folclore (nome pelo qual quis se identificar) tem 12 anos de pichação e grafite nas ruas de Curitiba. Entre missões bem-sucedidas e “passeios” até a delegacia, ele afirma que o “rolê massa” é chegar em casa e estar vivo.
Introvertido, com aparência jovem e vestindo roupas largas, ele vê na arte talvez uma forma de se comunicar com o mundo. Assim, conversa em tom de voz baixa e, serenamente, conta um pouco de sua vida. Folclore diz que se interessou pelo desenho por influência do pai, que fazia bicos como arquiteto. Filho único, quando criança encontrou formas de viver sozinho, uma delas era participar de competições de jogos on-line nas LAN houses, mantendo dessa forma, contato com amigos virtuais, principalmente.
Já na época da escola, ele revela que em uma confraternização do curso de inglês, na qual todos levaram comidas, se juntou a um amigo e foi para uma sala separada, onde ficaram apenas os dois, comendo seus próprios lanches. Ao abrir a porta, uma professora encerrou a cena com uma bronca,
Guilherme Araki 87
afirmando em apenas uma frase, um marcante “Vocês são uns antissociais”, antes de fechar a porta novamente. Assim nasceu a primeira sigla pichada nas carteiras da sala de aula: “AS”.
Folclore conta que nunca foi muito bom em Matemática. No colégio, pegou recuperação final algumas vezes e “era finalista sempre”, diz ele, rindo. Também relata que teve muita influência dos desenhos de televisão e “filmes doideira”, como Jurassic Park. Em casa, tinha livros de desenho e em sala de aula rabiscava a carteira. No entanto, uma vez foi pego em flagrante pela professora, e recebeu uma suspensão. Foi a primeira vez que a casa caiu.
É impossível falar do Folclore de hoje sem falar de grafite, mas, além disso, ele também cursa faculdade de Design, curte beber cachaça, comer churrasco, trocar ideias com os aliados e viajar. Tem também uma marca pessoal de roupas, na qual emprega as influências da rua. Ele garante que “Grafite é doideira, porque eu curto participar da cidade hoje em dia. É a minha visão. Como tem muitos elementos na cidade, eu sou a tinta, eu sou o grafite. Tem a placa, tem a árvore, tem a ambulância, tem o bombeiro, tem a polícia, o ‘zé povinho’, e eu sou o grafite. Eu gosto de ver o codinome que eu comecei a levar nas ruas estampado por onde eu passo, e me sinto bem”, afirma.
No entanto, Curitiba é um território hostil quando o assunto é arte de rua. A multa para pichação e grafite é de R $ 5 mil a 10 mil. Entre os vários problemas que Folclore já teve em decorrência disso, ele considera que o pior deles foi o impacto em seus vínculos familiares, quando passou a ter discussões em casa e conta que a visão dos pais sobre ele não é mais a mesma. Sempre há aquele “pé atrás”, principalmente quando ele sai à noite, na madrugada: “Há dias em que eu chego em casa e eles falam que não conseguiram dormir”.
Como o Saci-Pererê, personagem da mitologia brasileira, Folclore é conhecido por suas travessuras. Enquanto o garoto de uma perna só esconde objetos das pessoas, faz tranças nas crinas dos animais e atrapalha o trabalho das cozinheiras, o artista pula grades e escala janelas para riscar, colorir a cidade e, é claro, se divertir. De fato, Folclore faz parte do folclore urbano de Curitiba.
Folclore das ruas 88
De acordo com os amigos, apesar de gostar de criar conexões e trocar ideias, às vezes, o artista prefere ficar sozinho, aproveitando sua própria presença. Entre histórias boas da rua, conta da conexão criada com um conhecido escritor de São Paulo, que lhe foi apresentado por uma amiga em comum na Pista do Gaúcho, point do movimento urbano em Curitiba. Folclore conta ter apresentado a ele lugares que, se você for turista, a cidade não te mostra. Na viagem mais recente para São Paulo, os dois se reencontraram, realizando um natural intercâmbio cultural entre suas cidades.
Apesar dos problemas, ele diz sentir que as coisas estão mudando. Um pouco mais carrancudo, como se definiu, vê a cidade com outros olhos. Acredita que muitas das dores de cabeça que já viveu foram pela falta de experiência, como, por exemplo, “bater de frente com um policial de 40 anos enquanto você tem menos de 18”, relata.
O gosto pelo desenho quase o fez seguir o caminho do pai, estudando Arquitetura, mas uma feira de profissões o apresentou ao curso de Design, pelo qual ele se interessou e que passou a cursar. Juntando a vivência das ruas com a da universidade, Folclore busca levar o grafite para o meio comercial.
Pelas redes sociais, o grafiteiro compartilha alguns de seus trabalhos e aventuras, sem se identificar. Nem com seu pseudônimo, que ele utiliza no grafite e como é conhecido. Além disso, não mostra o próprio rosto, se mantém no anonimato e sem receber o reconhecimento como artista. Portanto, talvez você já o tenha visto em um bar ou sentado em um canto riscando seu caderno. Assim, ao mesmo tempo que é difícil descobrir e ter acesso a essa pessoa, é fácil encontrar suas marcas deixadas pela cidade de Curitiba.
Sobre o que gosta, Folclore conta: “O bagulho é você ter as cores certas para fazer um pico”. Com cautela, diz ter convicção em continuar vivendo o movimento, do qual para ele é impossível se afastar. Assim, o grafiteiro anônimo conclui sobre a razão de continuar nessa vida: “Me faz bem, como alguém que gosta de ‘dar grau’ na rua com moto, andar de skate, andar de bicicleta. Eu faço grafite”.
Guilherme Araki 89

Folclore das ruas 90

Guilherme A. P. Kruklis uma vida de rabiscos

Na parte externa do estúdio de tatuagem onde trabalha, Maxwell Alves aproveita o período sem clientes para acender um cigarro e pegar um pouco de sol, preparando-se para o longo dia de trabalho que terá pela frente. Conta que faz tatuagens que, muitas vezes, levam oito horas para serem finalizadas, mas com um sorriso no rosto, ele brinca comigo perguntando quando vou fazer uma, para “colocar um pouquinho de cor nesse braço”. Mostra que, mesmo com a longa jornada de trabalho, isso é prazeroso para ele.
Max, como seus amigos e clientes o chamam, conta que essa paixão por desenhar vem desde a infância, confessando que muitas vezes ele pegava um dos diversos livros religiosos que tinham em sua casa para fazer seus desenhos, que na época não saíam muito do padrão esperado de uma criança, sendo muitas vezes dinossauros ou apenas rabiscos sem um objetivo final em mente.
Inspirado na sua paixão de infância, Max estava decidido a se tornar um ilustrador de histórias em quadrinhos, uma de suas paixões
Guilherme A. P. Kruklis 93
dentro do mundo geek , além de animes e franquias históricas como Star Trek e O Senhor dos Anéis. Relata que até já chegou a ir caracterizado de um dos personagens a um evento de lançamento de um dos filmes da premiada trilogia, tamanha a sua paixão por esse mundo da cultura pop que influencia os seus trabalhos até hoje.
Com esses trabalhos indo além da pele de seus clientes, e do mundo físico como um todo, conta que está fazendo um projeto de animações em formato de NFT, que vem da sigla em inglês non-fungible token , um tipo especial de token criptográfico que representa algo único e exclusivo.
Entretanto, no seu último ano da faculdade, um amigo lhe ofereceu alguns equipamentos de tatuador por apenas R $ 300,00 e por já ter feito diversos desenhos que viraram tatuagens nas mãos de outras pessoas, Max conta que pensou: “Se eles conseguem fazer, por que eu não vou conseguir? E se não der certo, pelo menos serve como experiência, né?”, sem ter ideia de que este seria apenas o começo de uma vida repleta de rabiscos definitivos.
Algumas de suas primeiras tatuagens ainda estão no ranking das mais marcantes, não pelos mesmos motivos que as mais recentes. Dando uma leve risada enquanto acende mais um cigarro, complementa que a formação profissional ajudou muito a sua carreira, por conta das diversas técnicas de desenho que aprendeu naquele período. Mas acredita que ela não afeta muito quando o tatuador realmente se esforça e pratica isso no dia a dia, pois a tatuagem se transforma em um estilo de vida.
Combinando sua paixão com esse comprometimento com a arte, seu trabalho virou um modo de se expressar, algo que ele divide com Marcos Pesch, a quem conheceu por conta de ter sido indicado por um amigo em comum para fazer-lhe uma tatuagem. “Ele tinha os braços lisinhos ainda, tinha quase nada de tatuagem”, Max relembra. Hoje, além de amigo, tem os braços, as pernas, as costas e o peito fechados com tatuagens, e ainda transmitiu uma de suas paixões, a educação física, para Max, que pratica duas vezes por semana há mais de um ano.
O esforço físico nas aulas é desgastante, e admite que muita vezes vai contra a sua própria vontade, mas após observar que seu corpo, agora com 34 anos, já não se comportava mais como quando iniciou sua carreira,
Uma vida de rabiscos 94
decidiu insistir, e hoje sente mais facilidade para seguir no trabalho em sessões mais longas, que chegam a até oito horas seguidas, em alguns casos.
Marcos conta que seu objetivo é que, através do movimento, você entenda melhor seu corpo e consiga ter uma vida mais saudável, e complementa que esse estilo de vida e profissão de educador físico, muitas vezes, gera comentários de “canto de olho”. Max concorda e opina utilizando como exemplo sua própria casa: “Meu pai é garçom, nunca pensou em, pela necessidade também de trabalhar e de ter que sustentar a casa, fazer algo que ele realmente gostasse, porque naquela época o negócio era arranjar um emprego e ficar o máximo de tempo possível para conseguir sustentar a família”, conta. Continua opinando que o preconceito vem de não compreender que quando se escolhe uma carreira, a estabilidade é menos relevante que a satisfação pessoal e o amor pelo que se faz.
Infelizmente, os dias de desenhar apenas por lazer estão virando somente uma memória do passado para Max, que tem até dificuldade de lembrar quando foi a última oportunidade que teve de pintar algo com a tradicional cor preta forte de suas tintas nanquim, as quais servem de inspiração para o seu estilo de tatuagem com traços fortes e escuros. Porém, o peso de perder o tempo livre para a sua paixão vem acompanhado da satisfação pessoal ao ver seu irmão mais novo seguindo seus passos e iniciando sua carreira no ramo que deixa marcas eternas nas pessoas que passam pelas mãos do tatuador.
Guilherme A. P. Kruklis 95

Uma vida de rabiscos 96

sua individualidade é parte da sua identidade
Letícia Fortes Molina Morelli

Nascida em uma cidade no interior de Santa Catarina cujo nome significa “lugar de muitas pedras”, Edila Gesser de Lima encontrou na literatura o melhor recurso para lapidar as pedras que formaram sua trilha pelo mundo: as palavras. A senhora de 75 anos, cabelos loiros na altura dos ombros e olhos azuis cintilantes como as cataratas de Corupá, espalha suas pedrinhas em formato de textos por todos os caminhos que percorreu durante a vida.
Para Edila, caminhar é sinônimo de liberdade. Andando com passos rápidos e cadenciados, costuma subir as sete quadras que separam a Rua Brigadeiro Franco da Praça do Japão por volta das 8h. Ela percorre mais de um quilômetro, todos os dias, em uma avenida batizada com outro símbolo de liberdade: Sete de Setembro, a data da Independência do Brasil.
Embora sempre tenha gostado de caminhar, Edila colocou seu hobby como prioridade somente depois de 2020. Com a pandemia da Covid-19, ficou claro para ela que era preciso movimentar-se todos os dias e
Letícia Fortes Molina Morelli 99
redobrar os cuidados com a alimentação. “Eu não abro mão da minha água com limão e mel. É questão de levantar da cama e tomar, antes mesmo do cafezinho preto. Meu santo remédio para a imunidade!”, conta Edila.
Além de buscar inspiração para escrever seus textos autorais, Edila aproveita suas caminhadas diárias para ir ao mercado quando necessário. Por isso, a professora aposentada raramente caminha com roupas de ginástica. É muito mais comum encontrá-la com um vestido estampado com flores ou animal prints, de alças grossas e um leve decote que expõe a pele clara de seu colo, no qual se destaca seu escapulário preferido.
Nele, ela carrega no peito a imagem de Nossa Senhora de Fátima, sua santa de devoção. “Nossa Senhora me acompanha o tempo todo, não consigo ficar sem ela por perto. Buscar conforto em oração foi, inclusive, a única coisa que me fez pensar que meu pai partiu no momento certo, há dois meses. Tinha tudo preparado, inclusive restaurante reservado para o aniversário dele, em maio. Pensei que poderia ter ficado mais com ele em vida, mas logo percebi que fiz o que estava ao meu alcance e dei o máximo de amor que pude.”
Ao fim de sua caminhada diária, por volta das 9h, Edila chega na portaria do edifício Madison Square e tira seus óculos escuros em formato quadrado, de armação marrom. Logo após retirar as lentes escuras do rosto, ela veste seu sorriso mais iluminado para dizer “bom dia” ao porteiro, aos moradores e colaboradores do prédio que estiverem no hall de entrada. Por isso, quem conhece Edila à primeira vista, aparentemente tão integrada aos ambientes da cidade e do edifício, não imagina que a síndica do Madison Square já deixou partes de seu coração, sua história e família no interior de Santa Catarina.
Apesar de morar em Curitiba há mais de dez anos, Edila ainda relembra com carinho o tempo que passou em São Bento do Sul, onde se casou, criou três filhos e lecionou língua portuguesa e literatura por mais de 20 anos. “A família sempre foi minha fortaleza, mas dar aula e acompanhar o desenvolvimento dos meus alunos me trazia satisfação como ser humano, sabe? Me trazia aquela sensação de dever cumprido”, diz Edila com um sorriso saudosista nos pequenos cantos de seus finos lábios, avermelhados pela cor de seu batom favorito.
Sua individualidade é parte da sua identidade 100
Foi na Escola Básica Municipal (EBM) Presidente Castelo Branco, que Edila cumpriu o que chama de “dever de vida”. Como professora de língua portuguesa, ela participou, durante anos consecutivos, da Mostra de Conhecimento de Leitura da escola. Nesse evento, um grupo de professoras da escola envolvia 560 alunos, educadores, pais e a comunidade local para estimularem o gosto pela leitura nas crianças e nos adolescentes. Aceitar o desafio de ser professora já é, por si só, um ato de bravura no Brasil, onde 77% dos próprios educadores não se sentem valorizados profissionalmente, segundo pesquisa realizada em 2021 pelo Instituto Península.
Entre escolas públicas e particulares, o Brasil tem, hoje, mais de 2 milhões de professores, cujo piso salarial determinado por lei é de R $ 3 mil. Mais de 90% dos educadores declararam que recebem menos do que a complexidade de sua atuação. Além disso, a pesquisa intitulada “Valorização da carreira docente: um olhar dos professores” revela que a maioria dos professores são mulheres entre 36 e 45 anos, que dão aulas no Ensino Fundamental, ou seja, brasileiras que exerceram a profissão no mesmo período de vida que Edila o fez.
Porém, Edila sempre foi além de projetos e atividades desenvolvidos em sala de aula. Para ela, defender sua paixão por palavras e histórias é uma questão não apenas de falar sobre os benefícios da leitura para os alunos, mas de realmente ajudá-los a escrever na prática. “Era cansativo, sim, mas tudo que se faz com amor vale a pena no final.”
Não foi por acaso que a dedicação de Edila à profissão materializouse no livro A São Bento que você não vê, que não conhece, patrocinado pela Fundação Cultural e pela Prefeitura Municipal de São Bento do Sul. Como professora, ela orientou o processo de escrita criativa de quatro crônicas produzidas por alunos dos 8º e 9º anos, estimulando-os a olharem para a cidade que ninguém vê, com suas peculiaridades, inovações e qualidades escondidas em locais vistos como corriqueiros e na memória de pessoas tidas como “comuns”.
Para Edila, todas as pessoas têm uma história interessante para contar. Por isso, ela faz questão de seguir um dos principais ensinamentos de sua mãe, Edith Gesser: “Use suas duas orelhas para ouvir mais e só uma boca para falar menos”. “Minha mãe me ajudou a perceber que Deus me
Letícia Fortes Molina Morelli 101
presenteia o tempo todo com pessoas, porque quando elas não se tornam amigas queridas, com certeza vão me ensinar algo ou me mostrar um exemplo que eu não quero seguir.”
Com a mesma sensibilidade que estimulou seus alunos a olharem para as peculiaridades de São Bento do Sul e descrevê-las com suas próprias palavras, Edila encara sua vida pessoal e profissional com resiliência e percorre os caminhos que, acima de tudo, lhe permitem repousar em paz no travesseiro ao final do dia. Em 2014, depois de tornar-se viúva, Edila resolveu construir novas memórias fora de São Bento do Sul, e no mesmo ano, tornou-se síndica do edifício Madison Square, localizado no número 2.442 da Rua Brigadeiro Franco, no centro de Curitiba.
Embora a paciência e a tranquilidade sejam algumas de suas características, Edila não gosta de ficar parada. Por isso, aceitou a responsabilidade de ser síndica, cargo que a maioria das pessoas recusa pela falta de disposição para cuidar constantemente de assuntos administrativos no prédio.
Para o zelador Valdinei Silva, Edila certamente passa mais tempo resolvendo questões burocráticas na portaria e no hall de entrada do prédio do que em sua casa, no apartamento 101. Quando questionado sobre o perfil de Edila como síndica, Valdinei confessa baixinho: “Ela é bem rígida na hora de repassar o consumo de água nos apartamentos. Volta e meia me fala para checar o registro dos apartamentos mais de uma vez, principalmente quando ela percebe alguma diferença grande de um mês para o outro”.
Apesar de ser criteriosa com a prestação de contas no prédio, Edila também sabe ser flexível e conectar-se com empatia ao problema do outro. Quando o irmão da porteira Simone Alves acordou com febre acima de 37ºC, a primeira reação de Edila foi liberá-la do trabalho por um dia para que ela pudesse acompanhar o irmão no hospital. “Dona Edila é uma pessoa fácil de conviver, ela só exige que a gente cuide com a entrada e saída de pessoas no prédio e mantenha os registros organizados. Mas ela já me ajudou muito quando precisei socorrer alguém da minha família”, conta Simone. Na sua ausência, foi a própria Edila quem cumpriu o turno das 7h às 15h na portaria do edifício Madison Square.
Sua individualidade é parte da sua identidade 102
Segundo a irmã Ligiane Gesser, Edila cuida das áreas comuns do prédio como se fossem parte do seu próprio apartamento. “Em plena pandemia, a Edila não sossegou até convencer os condôminos, durante assembleia, a ajudarem a pagar pela reforma do hall de entrada. E eu mesma a ajudei a escolher os estofados dos móveis e a trocar o espelho, as cortinas e os quadros do hall. A única coisa que não dei foi pitaco sobre os vasos de flores, porque minha irmã tem ciúmes das plantinhas dela”, confessa Ligiane, com voz baixa e um sorriso travesso nos lábios.
As flores sempre encantaram Edila por sua beleza, aroma e frescor, especialmente orquídeas. “Eu me esforço para florescer, todos os dias, como minhas plantas fazem. Tenho saúde e conforto na minha casa, sou muito privilegiada. De nada adianta deixar a raiva e o estresse apodrecerem o coração.”
Para Edila, a reforma do hall de entrada do prédio nunca foi uma questão de vaidade, mesmo durante o auge da pandemia da Covid-19, em março de 2021. “Futilidade é quem deixa de cuidar do que é coletivo para gastar apenas com coisas para si, dentro do seu próprio apartamento. A vida é muito maior do que o seu espaço privado.”
E é através de seus textos autorais, afixados nas paredes dos elevadores do prédio, que Edila transmite sua energia positiva aos condôminos diariamente, mesmo não se encontrando pessoalmente com todos ao longo da semana. No poema “Meus desejos para você”, a síndica do edifício Madison Square traz uma reflexão importante: “Espero que você perceba que sua individualidade é parte de sua identidade. Que você descubra que, quando prospera, você ganha mais poder para ajudar os que têm necessidade. Desejo que você realize todos os seus sonhos.”
Letícia Fortes Molina Morelli 103

Sua individualidade é parte da sua identidade 104
 Maria Eduarda Souza
Maria Eduarda Souza
é tudo ou nada

O ano era 2004 e Diorlei dos Santos se viu novamente algemado a uma mesa aguardando a sua sentença. Com 14 anos, já era a sétima vez que o jovem havia sido preso em um período de dois anos. Nessa ocasião, foi por furto ou, como ele mesmo afirma: “Caí por 157”. No dia, estava mais ansioso do que o normal, já que posicionada à sua esquerda estava sua mãe, do lado direito, o tio e, logo atrás, o irmão.
Dirigindo-se à mãe de Diorlei, o juiz perguntou como gostaria de proceder: “Dona Cida, quer que ele volte para casa, vá para uma chácara de recuperação em Santa Catarina, ou quer que ele fique aqui internado por três meses?” O adolescente pressupunha que a mãe optaria por sua volta para casa, mas foi pego de surpresa quando ela disse: “Quero que ele fique aqui por três meses”.
Embora não tenha compreendido a escolha da mãe no momento, agora com 32 anos, ele afirma: “Se eu fosse para casa naquele dia, eu não
Maria Eduarda Souza 107
estaria vivo hoje”. Foram 90 dias preso no Serviço de Atendimento Social (SAS). Posteriormente, ele foi encaminhado para uma chácara, de onde fugiu para outro estabelecimento de recuperação, a Fundação Meninos de 4 Pinheiros, localizada na cidade paranaense de Mandirituba, na região metropolitana de Curitiba. Semelhante a outros lugares de reclusão pelos quais passara, a não ser pela falta de cercas no local, fazendo com que ele se sentisse mais livre.
Nascido em Ivaiporã, município no norte do Paraná com cerca de 31 mil habitantes, Diorlei mora atualmente em Curitiba, onde trabalha como músico, compositor, arte-educador, motoboy e, nas horas vagas, desempenha a função de faz-tudo. “Eu sou como o Julius, só que com mais de dois empregos”, diz ele, em meio a gargalhadas, comparando-se ao protagonista da série norte-americana Todo Mundo Odeia o Chris.
Apesar da carga horária de trabalho excessiva exercida por Diorlei para pagar as contas, sua paixão é o ofício como músico e arte-educador. Ao falar das apresentações que realiza como coordenador percussivo do Bloco Afro Pretinhosidade e da função de professor e idealizador da banda feminina da Vila Torres, Princesas do Ritmo, sua feição muda para um sorriso largo em uma expressão que remete ao orgulho e à felicidade.
O candomblecista, quando mais jovem, frequentava a Igreja do Evangelho Quadrangular. Mas, hoje, Diorlei reconhece a importância que a ancestralidade afro-brasileira desempenha em sua vida e no trabalho cotidiano como músico e professor. Apesar de homem preto retinto, passou boa parte da infância e adolescência sem se reconhecer como tal.
A cor estava lá toda vez que olhava para si mesmo no espelho, mas ele não se identificava naquela pele. “Eu não me reconhecia como preto e, se eu pudesse ser branco, eu era”, expressa com certa descrença do seu eu do passado. Ele só foi se descobrir como preto aos 17 anos quando foi apresentado ao grupo de dança afro, Ka-naombo, enquanto ainda estava na Fundação dos 4 Pinheiros. Apaixonou-se pelos movimentos que nunca havia visto antes, e se surpreendeu com a quantidade de pessoas pretas reunidas em um só local.
Para além da identificação e da valorização da cultura afrobrasileira, a música e o grupo Ka-naombo proporcionaram amizades como
É tudo ou nada 108
a de Eliane Cristina, ou simplesmente Chica. A funcionária pública federal de 58 anos enxerga Diorlei com olhos de admiração: “Ele é um exemplo para quem vai até o último grau de dificuldade nessa sociedade racista, e consegue dar a volta por cima sem ser prepotente”.
E foi graças à força e impulsividade, característica da sua personalidade desde muito cedo, que conseguiu uma bolsa de estudos para dançar em Salvador. Em 2014, chegou às audições para a escola de dança, sabendo apenas o ritmo afro, e ignorando totalmente os outros estilos dos quais deveria ao menos compreender o básico.
Enquanto alguns se preparavam para uma das apresentações que era de balé, Diorlei não tinha sequer comprado um collant. Mas não deu meio volta, caminhou em direção ao palco e dançou trajando uma calça de malha e camiseta. Posteriormente, recebeu a notícia de que tinha sido aceito e se organizou para a mudança do Sul para o Nordeste.
Em Salvador, foi apresentado ao candomblé, religião que hoje faz parte de sua identidade. Na cidade, durante as tardes quentes que passava no Pelourinho, encantou-se também com a percussão. Em determinado momento, tudo que conseguia ouvir era o batucar das baterias talentosas da capital baiana. Optou então, em 2016, por abandonar as aulas de dança e retornar a Curitiba, com intuito de imergir de vez no universo da percussão. Não parece se arrepender da escolha. Hoje a dança ainda ocupa um lugar muito especial em seu coração, uma válvula de escape em momentos de estresse. Depois dos quatro anos que passou envolvido com as drogas, dos 10 aos 14, decidiu se manter totalmente sóbrio. Como não bebe nem fuma, ao sair com os amigos, gosta de dançar. “Minha intenção é dominar a pista mesmo.”
Para Sidarcina Aparecida, a Dona Cida, são perceptíveis as mudanças positivas que o filho Diorlei teve desde a infância. O “Chocolate”, “Nego” ou “Vida”, como a auxiliar de serviços gerais de 52 anos apelidou carinhosamente o primogênito, é motivo de muito orgulho. “Ele não se transformou em uma pessoa do mal. É um menino bom, que tem um coração de ouro e que quer ajudar todo mundo”, afirma com a voz embargada pela emoção.
Maria Eduarda Souza 109
O menino bom de Dona Cida acredita que foi salvo pela cultura. E trabalha com intuito de construir um mundo melhor para o crescimento de sua filha, Sol Maria, de 8 anos, que mora hoje com a mãe em Sorocaba, interior de São Paulo. Ele deseja também que cada vez mais pessoas pretas e periféricas tenham acesso à musicalidade afro-brasileira.
É tudo ou nada 110
 Maria Luísa Cordeiro palhaçada é coisa séria
Maria Luísa Cordeiro palhaçada é coisa séria

Com 42 anos, em 1993, Anarquino nasceu na ala pediátrica do Hospital Irmã Dulce, em Salvador. Sua vontade era levar leveza, tranquilidade e risadas para crianças, pais e funcionários que estavam ali.
Rodeado de 82 crianças, ele colocou um nariz de palhaço em cada uma delas e tirou da sua bolsa um espelho mágico. Sua magia? Fazer as crianças rirem ao se verem com o nariz de plástico vermelho.
O personagem de Gerson Guerra nasceu ali, mas seu sotaque nordestino veio para alegrar crianças no Hospital de Clínicas de Curitiba. Suas brincadeiras não são barulhentas, para não incomodar aqueles que estão dormindo, ou com dor. Ele não está ali para saber sobre diagnósticos, mas tem o melhor remédio: o sorriso para aliviar aquele momento de angústia.
Por outro lado, Dona Quina, outra personagem que encarna, já nasceu idosa. Ela tem cabelos cacheados loiros, queixo levemente para frente, roupas coloridas e estampadas, brincos de argolas exagerados, maquiagem avermelhada nas bochechas e batom rosa. Mas não se engane: ela não é
Maria Luísa Cordeiro 113
nenhuma senhorinha. Ela é amante dos homens, beija na boca, joga charme e senta no colo dos senhores. Em 2003, ela animava o grupo da terceira idade nas oficinas de arte e cidadania, contando causos, fazendo trabalhos manuais e dançando.
O nome dele é Anarquino. O nome dele é Dona Quina. O nome dele é Gerson. O ator e seus personagens se confundem ao ponto de ele falar de si mesmo na terceira pessoa. Seus alter egos ficaram presos por 37 anos e se libertaram depois que Gerson passou a frequentar a somaterapia, uma forma de terapia em grupo criada por Roberto Freire, que mistura capoeira Angola, anarquismo, Gestalt-terapia e pesquisas reichianas. Ele saiu do trabalho de engenharia civil, mudou-se para Florianópolis e começou a escrever poemas. Naquele momento hippie, ele começou a recuperar a veia artística que toda a família Guerra reprimiu durante a Ditadura Militar.
Gerson usa calça jeans azul, camiseta branca, casaco vermelho, óculos azul e boné escondendo o cabelo branquinho. Mas sua vestimenta discreta não o intimida para fazer amizades. Ele é apegado às pessoas. Um homem em situação de rua, caminha em nossa direção. Gerson o conhece. O dono do barzinho Argentino, com empanada de ricota com tomate e molho picante, Gerson o conhece. Ambos nunca lembram o nome um do outro, mesmo já tendo perguntado três vezes. Mas não se preocupe, eles não têm vergonha alguma de perguntar mais uma vez. Fábio, Gerson. Gerson, Fábio.
Suas duas filhas, Alice e Luiza, são seu porto seguro. Quando Alice fazia teatro, mesmo cansado do trabalho e já tendo decorado as falas, as músicas e as danças, ele fazia questão de ir em todas as peças. Luiza, sua caçula, ao falar dela, logo se lembra de um poema que escreveu sobre um sonho engraçado que ela teve quando pequenina.
Enquanto outras crianças morriam de medo de palhaço, para essas meninas, esse personagem representava o pai brincalhão. Alice, com 6 ou 7 anos, criou a Palheca, para acompanhá-lo na entrega de brinquedos em hospitais e creches. Assim aprendia a fazer os outros rirem tal qual ela mesma ria em casa. Nas festas juninas do colégio, ele se divertia com as crianças. Chegava vestido de pai e saía como palhaça. “É o pai da Alice!!”, um colega gritava. “Não, não, eu sou a Dona Quina!”
Palhaçada é coisa séria 114
Apaixonada por atividades aventureiras, Alice, ainda uma menina, queria subir na árvore. Mas a altura, o medo de cair, de pisar errado, de não conseguir descer eram obstáculos que poderiam paralisá-la. Ao olhar para baixo, seu pai lançava um feitiço com as palavras: “Maior apoio!”. Nesse momento, como em histórias em quadrinho, ela se fortalecia e a confiança em si mesma (e em seu pai) a transformava em uma super-heroína sem medo. Esse apoio não parou quando criança. Hoje, aos 23 anos, Alice está se formando na segunda graduação, fala cinco línguas e está estudando para ser diplomata. Um orgulho que deixa seu pai até sem palavras.
Anarquismo é sua ideologia. Só votou para presidente duas vezes em sua vida. Teve muitos amores ao longo da vida. Seu lema é prazer e liberdade. Sem alarme para acordar. Seu grande amigo João Batista de Pilar, poeta com seis livros publicados, atualmente vive em situação de rua. Por enquanto, o alcoolismo está ganhando a batalha que o impede de voltar a viver. Gerson guarda a identidade do amigo na carteira e um retrato recente no celular. Mostra para mim uma foto de João de 2010. “Olha ele aqui!
Estava sóbrio…”, fala com tristeza pelo amigo, que passou quatro anos sem beber, até o início da pandemia há dois anos. Quando levado pela FAS, ele é o contato de emergência.
Cada história lembra um poema, uma música, um verso. Gerson é apegado à vida. O importante é o aqui e o agora. “É sobre o estar, nunca o ser ou ter.” Sua máxima é se reinventar. Com a pandemia, sua livraria no bairro Mercês fechou e começou a vender máscaras de proteção personalizadas. Desde 1993, vende sua agenda artística. Atualmente está na feirinha do Largo da Ordem todo domingo de manhã, embaixo das araucárias nas Ruínas de São Francisco, mas se conversarmos daqui a um mês, provavelmente já estará fazendo outra atividade. De repente a conversa para. São 18 horas em ponto. O celular toca. Ele para tudo que está fazendo. Coloca sua cerveja na mesa, apoia a empanada no prato e retira o celular do bolso. Ele olha o título do alarme: “Rainha Regina”. Essa é uma lembrança para que todos os dias, naquele horário de pôr do sol, pare, feche os olhos, e pense algo positivo para sua irmã. Regina faleceu de câncer no fim do ano passado, mas a saudade ainda é viva tanto quanto era a sua energia. Ela era cinco anos mais velha do que ele. Mais que sua confidente, era sua cúmplice nas aventuras. As viagens,
Maria Luísa Cordeiro 115
as festas, os carinhos, as risadas e as brincadeiras são lembradas com a voz embargada. Sua felicidade é aproveitar a vida. Com experiência própria, sabe que ela é passageira.
Palhaçada é coisa séria 116

ligação covalente: Olindo Carlos Baggio
Mariana Alves

Como falar sobre Olindo Carlos Baggio sem começar citando alguns conceitos da Química Orgânica, além da sua carreira de educador? Em muitos momentos é difícil separar sua vida pessoal da vida profissional, pois mesmo aposentado, ela ainda é muito presente na sua rotina, e claro, em sua história.
O professor Olindo era aquele sobre quem certamente todos já ouviram falar e esperavam ansiosos pelo ano em que teriam aula com ele. Muito respeitado e temido, era fácil suas aulas serem confundidas com filmes de faroeste, pois todos corriam, “escondiam-se” e até evitavam dar algum suspiro um pouco mais alto na sala. Ele realmente tinha o poder de fazer você ficar com um frio na espinha, apenas ao chamar qualquer um para responder uma questão da tarefa de casa. Mas, também, confesso que era muito mais do que isso. O mestre Olindo era um ótimo professor, a ponto de me fazer entender uma disciplina tão difícil como química, além de estar sempre à disposição para tirar qualquer dúvida que tivéssemos.
Mariana Alves 119
E não parava aí, pois o professor Olindo também resguardava um lado muito mais amistoso para momentos fora da sala de aula, mostrando ser alguém brincalhão e carinhoso conosco.
Em seus 41 anos letivos como docente e coordenador (só no colégio Medianeira, em Curitiba), ele acumulou dezenas de “sempre-alunos”, como ele mesmo gosta de chamá-los. Ele conta que eles também são grandes amigos, os quais se reúnem até hoje, todas as quintas-feiras, mesmo durante a época de pandemia. Para seu amigo e ex-colega de trabalho, Marcelo Prestes, a relação sempre foi de muita cumplicidade e aprendizado, pois segundo ele, Olindo era um “Professor rigoroso em sala, mas com enorme coração fora [dela]. Quem teve o privilégio de conhecê-lo pessoalmente é unânime em reconhecer a sua generosidade. Somos vizinhos no Hauer, então ele sempre aparece por aqui, ultimamente tem trazido alguns limões do quintal de casa”.
Pessoalmente, a qualidade que eu mais admirava nele era sua capacidade de estar sempre cultivando laços com as pessoas que cruzassem o seu caminho. Não era raro ele dizer que iria tomar cerveja ou participar de um churrasco com alunos que haviam se formado 20 ou 30 anos atrás e com quem ele ainda mantinha contato. Isso não só mostrava o quanto ele se importava com os alunos, mesmo tendo um jeito meio rabugento, mas também era prova do quanto ele havia marcado a vida de todas aquelas pessoas para quem tinha dado aula.
Após pensar nesse seu histórico, para mim já está evidente todo o reconhecimento que o professor recebe naquele ambiente escolar. Durante toda a nossa conversa, que infelizmente precisou ser por telefone, Olindo frisava a sua vontade de ressaltar como todos esses alunos e colegas de trabalho foram importantes para a sua vida. A cada detalhe que ele trazia, eu me impactava com como aquele homem tinha uma memória tão fresca sobre todos que passaram por sua vida. Seria um gênio? Um grande sábio entendedor de amizades? Também, confesso que ao longo de todo o nosso bate-papo, eu até me perdi com os nomes… Paulo, André, Ana, Gustavo, Rudi, Marcelo… pois eram muitos e o professor fazia questão de citá-los nominalmente, porque ninguém era tratado como um aluno qualquer, sem nome. Talvez esse seja o seu diferencial, fazer com que todos se sintam lembrados e se sintam únicos. Ele ama sempre estar renovando esse vínculo.
Olindo Carlos Baggio
Ligação
120
covalente: olindo carlos baggio
Já no âmbito familiar, as coisas não são diferentes, talvez por lá ser o lugar onde ele mais demonstra o coração gigante que tem, um coração nada ranzinza. Avô de três meninos, eles são os únicos que deixam o tal “Malvado Favorito” mostrar seu lado bobo. Um verdadeiro vovô coruja dos netos. Olindo conta que se casou com a sua primeira namorada, dona Tânia, há 46 anos. Afirma que, com ela, ele ama viajar para qualquer lugar em Portugal, provar bons vinhos e degustar qualquer prato ibérico. Relata que a conheceu na faculdade, e que quando passava pelo corredor, foi escolhido pela moça.
Ao lembrar da faculdade, recorda que começou a cursar Química na Universidade Federal do Paraná, mas pela difícil carga horária, transferiu-se para a PUCPR, onde também foi auxiliar de laboratório e por ali ficou por 31 anos.
A nossa conversa já se encaminhava para o fim e o mestre Olindo precisava voltar aos seus afazeres, que mesmo aposentado, ainda são muitos, quando o professor novamente salienta a sua vivência, fala da importância da vida acadêmica, do prazer de ver seus alunos crescendo, até mesmo ele se tornando padrinho de casamento de alguns e vê-los construírem uma família. Por fim, nós nos despedimos e, por alguns minutos, fiquei em inércia com a conversa que tive, pois me impressionava com a oportunidade que havia recebido da vida ao ter conhecido uma pessoa tão inspiradora como essa.
Mariana Alves 121

Ligação covalente: olindo carlos baggio 122 Olindo Carlos Baggio

uma mulher sem apoio
Paula Braga Goveia

A demora para atender a campainha é explicada quando a porta se abre, e, diante dela, está Izabel Meneghetti Mulon. A senhora de 67 anos, com um receptivo sorriso estampado entre as bochechas redondas e avermelhadas, tem sérios problemas nas pernas, o que dificulta bastante sua locomoção. Segundo ela, a mobilidade prejudicada não tem relação com o sobrepeso, mas, mesmo assim, diz que o fato de ter que subir em uma balança para comprovar os quilos a mais, não faria bem a sua condição mental.
O passo lento e pesado de Izabel carrega significado, e quer dizer muito sobre tudo o que a vida já impôs à pobre mulher. Sua aparência, o olhar fundo atrás das lentes grossas dos seus óculos e as falhas em seu cabelo demonstram que é inevitável o sofrimento, acumulado por anos em um coração, não expressar efeitos também no corpo físico.
Descendente de avós italianos, nascida e criada em Colorado, no interior do Paraná, Izabel conheceu seu ex-marido com apenas 13 anos.
Paula Braga Goveia 125
O belo rapaz, alguns anos mais velho, aparentava ser de família nobre e conquistou primeiro a sua mãe, que, à base de ameaças, convenceu a menina que aquele seria um bom partido.
Aos 16 anos, Izabel já estava grávida do seu primogênito, fruto de uma relação bem distante daquelas de amor que ouvia nas radionovelas. O homem quase não parava em casa e deixou a mulher e o filho nas mãos de sua mãe, que nunca escondeu o desgosto com essa união. Ainda muito jovem e com pouca noção da realidade, Izabel era torturada pela sogra e teve todas as suas necessidades reprimidas. Ela passava fome, sofria de abuso moral e não tinha voz nem espaço dentro do lar onde viveu durante quatro anos. Aos 20, ela engravidou do seu segundo filho, e faltando dois meses para tê-lo, decidiu que tinha chegado a hora de partir daquele lugar, do qual se recorda com lamento.
Depois da primeira mudança, ela, seus dois filhos e o pai ausente rodaram por diversos municípios por conta das obrigações repentinas do trabalho dele. Nem sempre eles tinham sorte. Izabel enfrentou inúmeras dificuldades e, como se não bastasse a situação difícil que vivia com duas crianças, engravidou pela terceira vez. Ela ainda só tinha 24 anos e, para além de toda angústia que passava, teve que encarar duramente o seu marido para que ele não a obrigasse a interromper a gravidez.
“Ele não queria mais filhos de jeito nenhum, muito menos uma mulher. Com muito custo e insistência do farmacêutico, ele desistiu de me fazer um aborto.”
Izabel sempre foi sufocada pela culpa e pelo rancor que o companheiro depositava sobre ela. Não sabia de muitas coisas, cursou só até a 4ª série e não contou com alguém que pudesse orientá-la.
“Eu nunca fiz nada por mim, o que eu fiz até hoje foi para os meus filhos.”
Mãe de dois meninos e uma menina, ela se sentia como um corpo sem alma, apenas cumprindo seus deveres de mãe e mulher nesse mundo cruel. Foi então que, quando não podia piorar, descobriu que estava grávida mais uma, e pela última vez.
Uma mulher sem apoio 126
“Aí ele conseguiu o aborto que queria. Ele me levou e me fez tirar o bebê de forma clandestina. Por sorte, eu não morri, mas uma parte de mim se foi.”
Izabel conta sobre essas passagens com a expressão tomada pela tristeza, mas com uma firmeza de quem sabe que, apesar de tudo, o importante é ter sobrevivido. Ela diz que durante toda a sua vida ninguém se importou com seus anseios, e tem um bloqueio marcado em falar sobre momentos de felicidade.
Apesar de tantos sinais deixados pelo sofrimento contínuo vivenciado por ela, a senhora é capaz de transmitir muito afeto e delicadeza. Mesmo sem nunca saber o gosto de ser amada e de ter experimentado o abandono do antigo companheiro, ela sabe como doar, de forma espontânea, a mais pura e sincera amorosidade.
Helena Sardá conheceu Izabel em maio de 2019. O caminho das duas senhoras se cruzou no elevador do condomínio chamado Life Space Estação, onde elas moram atualmente. E foi assim que uma amizade verdadeira, como caracteriza Helena, foi iniciada de maneira imediata.
“Izabel é uma amiga maravilhosa, conselheira, companheira e carinhosa. Ela é a única amiga que eu tenho aqui no prédio, sendo sempre prestativa e de um coração magnífico.”
Helena tem muitas coisas em comum com Izabel, por isso ela diz que a relação de amizade entre elas se tornou sólida e duradoura.
Assim como a bondade de Izabel, sua vulnerabilidade também é visível, mesmo para os que a conhecem superficialmente. Adriana Araújo também é residente do mesmo condomínio e ajuda a senhora, vez ou outra, com as compras de mercado. Para ela, Izabel é uma mulher muito humana e sensível, mas é frágil.
“A Izabel gosta de contato e de conversar, e não esconde a sua carência. Ela é sempre querida e solícita com todos, mas também passa essa necessidade de ser atendida por outras pessoas.”
Izabel permaneceu por 27 anos em Ribeirão Pires, Grande ABC de São Paulo, até que a casa onde vivia começou a se transformar em um mausoléu, e as doenças graves não permitiam que ela ficasse sem alguém por perto.
Paula Braga Goveia 127
“Meus filhos construíram a vida deles e ninguém lembrou que uma mãe precisa de cuidados, assim como uma residência necessita de reparos.”
Em 2017, Izabel foi morar com o filho mais velho em uma região elitizada de Curitiba. Lá ela reviveu todo o tormento enfrentado no convívio com a sogra anos atrás, mas dessa vez, com o tratamento maldoso vindo de sua nora.
“Tudo o que eu fazia era errado, eu não tinha liberdade, privacidade ou hospitalidade. Era como se eu estivesse morta, ou fosse um fantasma. Eu estava andando, mas ninguém me enxergava.”
Izabel prefere não divulgar a situação atual dos seus filhos nem os detalhes de sua relação com eles, ou os nomes dos três. Como uma mãe protetora que é, prefere não trazê-los para a exposição.
Hoje, Izabel vive literalmente sozinha, em uma quitinete localizada no centro de Curitiba. Na realidade, a solidão foi, de fato, a única companhia que ela teve na vida.
Uma mulher sem apoio 128
 Vinicius Bittencourt por amor às causas perdidas
Vinicius Bittencourt por amor às causas perdidas

Sua luta pelos direitos humanos começou em 1979, quando ingressou como professora do Estado, ainda sob um regime ditatorial, no governo do então presidente João Figueiredo. As greves e a militância foram iniciadas com a perseguição de sua liberdade. “Nós não podíamos falar em greve, pois, se falássemos, éramos presos”, diz a senhora, de 66 anos, que teve de suspirar após sua fala. A fórmula encontrada pelos profissionais da educação foi se referir a isso como “Movimento de Educação e Justiça”.
Natália dos Santos da Silva demonstra uma força interior que faz com que quem a esteja escutando, seja pego de surpresa com uma admiração imediata. Antiga líder de movimentos militantes, lembra dos anos em que residiu na pequena Assis Chateaubriand, próxima de uma Área de Segurança Nacional. Naquele período, por consequência de uma greve que atingiu grandes proporções, foi proibida de ir à sala de aula, por mais de um mês, para exercer sua função de lecionar. “Foi aí que começou a nossa
Vinicius Bittencourt 131
resistência”, exclama ela, dando um gole em sua xícara de café, como se essa pausa representasse o fim de um capítulo da história.
Com olhares distantes, como se estivesse revivendo os acontecimentos, relembra como tudo que consumia era controlado pelo governo. Desde seus discos até seus livros precisavam estar de acordo com o viés político estabelecido à época. Entre tantas histórias, uma, em especial, ela descreve como marcante. Quando voltava para casa todos os dias, com outras professoras, cada uma delas esperava a colega entrar em casa e acender a luz duas vezes para saber se estava segura. “Nós tínhamos medo de sermos levadas embora. Nossa família nunca mais iria saber o nosso paradeiro”, justifica.
Mesmo com a personalidade impermeável, Natália não esconde que o medo a acompanhou durante toda a sua vida. O segredo, segundo ela, é aprender a conviver com ele. A perseguição fazia parte de sua rotina. Sair sozinha pelas ruas era impensável. “A gente ia no barzinho e olhava em tudo para ver se não estava sendo gravado. Desde isqueiros até cadeiras, olhávamos embaixo”, conta, enquanto mexe seu café com a colher, levada por um momento de inquietação.
Os carros precisavam trafegar separados e nunca no mesmo local, buscando despistar qualquer presença indesejada. Até na escola onde trabalhava, não estava segura. A mensagem “cuidado que tem gente na cidade” significava que, infiltrados em meio aos alunos, poderiam ter perseguidores enviados pelo governo.
Hoje, mesmo em outro momento da vida, o que mudou foram as leves rugas, trazidas pela idade. Seu forte ideal e sua determinação seguem imunes, à prova de qualquer tentativa de censura. Devido a décadas dedicadas à militância, Natália casou-se, aos 38 anos. “Eu teria muitas dificuldades se eu me casasse com alguém que fosse diferente”, pela primeira vez, ensaiou uma leve risada. Teve sua primeira filha, Mariana, aos 40 anos, e o segundo filho, Guilherme, aos 45.
Aposentada como professora de Educação Física, conta, com brilho nos olhos, como ainda conseguiu “curtir” os filhos e levá-los para dentro da luta pelos direitos humanos. Seu filho, desde pequeno, acompanha-a em todas as manifestações, e sente dificuldade em encontrar palavras ao falar
Por amor às causas perdidas 132
da mãe. Em um raro momento no qual conseguiu expressar sua tamanha admiração pela figura mais importante de sua vida, disse com voz hesitante: “Muito do que eu sou e do que eu acredito é por causa dela. Eu devo isso a ela”.
Mas se engana quem acha que a destemida mulher, natural de Maringá, se aposentou, também, da sua incessante busca pelo fim das injustiças presentes no país. Mariana, sua primogênita, conta com sorriso no rosto, que a mãe ainda se mantém sempre na correria para ajudar o próximo. “Ela não para. Tem várias conexões e desenvolve ações por todos os cantos”, conta.
Natália, atualmente, é diretora do APP sindicato, o qual luta pela defesa dos direitos dos trabalhadores das escolas públicas do Paraná. “Precisamos estar sempre envolvidos em buscar uma vida digna para todos. Não podemos perder o fôlego”, faz questão de salientar.
Karine, que trabalha com Natália no sindicato, descreve-a como uma das pessoas mais ativas que ela conhece. Com evidente alegria em falar da companheira de batalha, diz que a “professora Natália” sempre lhe deu voz e que isso foi fundamental para sua formação enquanto agente de transformação. “A palavra que resume a ação dela: ela nos empodera. Nos permite sonhar e lutar. Até hoje, ela nos inspira para as lutas da educação, moradia e qualidade de vida”, um momento de emoção ecoa em sua voz.
Fora do ambiente de militância, a professora não hesita nem por um segundo em responder que a sua atividade preferida é fazer artesanato. “É uma terapia pra mim.” Além disso, destaca seus dotes culinários e faz questão de mencionar as suas plantas “suculentas”, das quais cuida com o mesmo empenho com o qual realiza tudo na vida. Em meio a um cenário nacional rodeado de injustiças, Natália não perde a fé em dias melhores e carrega consigo um forte ideal, potencializado por tudo que já viveu na pele. O que para muitos pode parecer uma luta por algo utópico, para ela é a constante oportunidade de mudar a vida de pessoas a seu redor.
Se ela fosse representada por um personagem da literatura, com certeza, seria Dom Quixote de La Mancha, em sua eterna busca por defender seus ideais, em um mundo de pessoas já desacreditadas. E, também, na canção
Vinicius Bittencourt 133
que leva o título de Dom Quixote, da banda Engenheiros do Hawaii, há versos com uma descrição perfeita do propósito de existência da guerreira senhora: “Tudo bem, seja o que for. Seja por amor às causas perdidas”.
Por amor às causas perdidas 134




























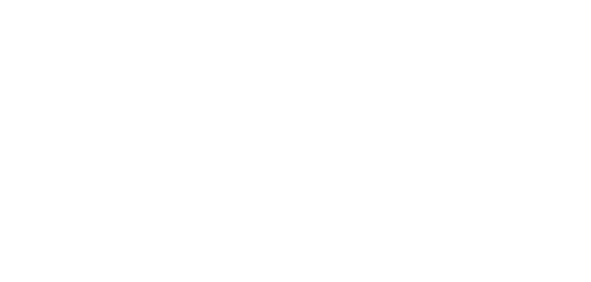



























 gonzo
gonzo


 Eduardo Veiga Nogueira a saudade é minha
Eduardo Veiga Nogueira a saudade é minha

No fim de semana, o Terminal Boqueirão é outro. Em dia de feira, as filas para se enfiar no bonde são quilométricas e as coxinhas sequinhas (com catupiry) da principal lanchonete são disputadas com unhas e dentes. Mas, agora, calmaria: é apenas uma tarde de sábado. Nela, ainda há o que se notar. Aos poucos, tons grafites de arrojados ternos se achegam pelas beiradas, junto a brilhantes lantejoulas que salteiam vestidos. São tipos que prendem os olhos e dão uma pista do que está acontecendo. A verdade é que o montante de pés que se arrastam e pisam o chão concretado do terminal todos os dias se transformam em arrasta-pé do outro lado da rua. Dê licença, que é dia de bailão do Clube Tradição. E para a “melhor idade”, segundo a propaganda da casa.
O salão de dança que ocupa o número 686 da Rua Zonardy Ribas, à beira da divisa entre Curitiba e São José dos Pinhais, não é para pessoas despreparadas e desprevenidas. Percebi que eu era um desses logo na hora de pagar a entrada. Meu cartão de débito não passava por nada os 10 reais
Eduardo Veiga Nogueira 139
cobrados pelo homem do outro lado do vidro. Não por acaso, também era o responsável pela organização dos bailes: Mauro Fagundes. Eu não tinha internet, não tinha dinheiro trocado, mas tinha uma fila de senhores e senhoras na rabeira. Todos com as cédulas devidamente contadas, não necessitadas de troco. Meu pai dizia: “Sempre ande com umas notas na carteira”. Acho que ele aprendeu com o pai dele. E o pai dele, com o pai do pai dele. Vai ver era tendência no passado. Eles sobreviviam sem pix.
Vergonha passada – cartão, não. O corredor carece de uma porta que separa os homens dos meninos, mas há um cheiro de bailão que faz essa função. Entre cartazes que exibem os próximos gaiteiros a tocar no Tradição, há um aroma de tabaco Chesterfield com frescor de bala Halls impregnado. O cheiro de bailão também traz perfume à cabeça, levemente. A rinite já quis me tirar para dançar, mas decidi procurar uma mesa em torno da pista recheada de casais e espantá-la.
Dica de um bailarino de primeira viagem: se quiser garantir um assento confortável, chegue cedo ao clube. Não levei mais do que dez passos para me dar conta disso, mas 20 minutos depois, recebi essa confirmação da Ivanilda. Voz da experiência, não de idade, mas de tempo de casa. Já se vão dez anos desde que Ivanilda largou a vida de contribuinte, agarrou a aposentadoria pela cintura e passou a conduzir uma rotina de presença certa nos bailes do Tradição, que ainda amontoam aquele dançarinos também às quartas, às sextas e aos domingos. E ela não esconde: – Eu chego meia hora antes de começar… só assim consigo pegar essa mesa. Sempre fico nessa mesa.
Naquele dia, ela havia chegado às 13h e certamente ficaria até o último suspiro da caixa de som, às 17h30, quando poderia parar com o vira-e-mexe que os óculos fundo de garrafa faziam sempre que os tirava e se dirigia à pista. Foi ao lado da Ivanilda que consegui uma cadeira.
Ainda me apertava entre Ivanilda, a mesa e a parede quando a garçonete puxou a lista de bebidas: “Whisky, bacardi, caipira” – ela claramente me superestimou no gogó e no bolso. Me acovardei atrás de uma única cerveja – ela escondeu ainda mais o sorriso quando neguei um balde inteiro. Entendi que eu seria, além de jovem, fraco para acompanhar o ritmo dançante com que os copos de meus pares brindavam. No momento em que
A saudade é minha 140
a cesta de salgados rodopiou pelo salão nos braços da mesma atendente, ela já devia esnobar meu poder de compra – e de apetite.
Aos poucos, pude sentir a cumplicidade que tomava senhores e senhoras por ali, o que também me levou a uma conclusão. A estranheza posta sobre mim desde a hora em que meti o nariz aqui dentro não se deve apenas à minha evidente mocidade (circulo, circulo e não encontro alguém que aparenta estar na faixa dos 20), mas principalmente por estar desacompanhado. O único outro personagem da tarde que pertencia à minha geração era o Clube, aos frescos 24 anos de existência.
Um amiga de Ivanilda, Jocélia, que se destacava pelo vestido de bolinha amarelinha tão pequenininho (feliz ou infelizmente, clássicos de Celly Campello ou da banda Blitz não faziam parte da lista de músicas) me pergunta duas vezes sobre o meu par – que não existia. Quando o altíssimo Marcelo me dá um boa tarde ao passar pela mesa, a musa inspiradora da canção questiona se o homem é meu amigo.
Assim como Ivanilda, Jocélia e as outras duas mulheres ao lado, muitas pessoas vão ao baile em grupos maiores. Amigas e amigos, o que poderia diminuir a paixão e a beleza de uma dança a dois. No entanto, o que se vê é o contrário. Entre marchinhas, vanerões e valsas, existem muitas cortesias ritualísticas que convencem uma dama ou um cavalheiro a dançar. Pedro, um senhor de bigode negro como sua pele e vestido finamente, se aproxima calmamente de Ivanilda e estende a mão. O olhar diz tudo, e o pouco que se abaixa frente a ela termina por arrancá-la espontaneamente da cadeira. Pedro olha pra mim – e dá uma piscadela.
Por outro lado, não faltam também homens menos românticos e mais apressados, que apenas olham para as mulheres com cara fechada e apontam o dedo para o centro da casa. Timidez? Talvez eu não fosse o único intimidado ali, por razões diferentes. Mas a sorte me ajudou, porque fui cair logo ao lado dos solteiros e das solteiras: na parte mais à direita do salão, ficam os que não têm namorado, namorada, marido e esposa. Já à esquerda, casais se divertem com exclusividade. Acho que eu teria ainda menos entrada no meio deles. Além disso, eu provavelmente perderia a cena mais bela da tarde.
Eduardo Veiga Nogueira 141
Foi um erro te amar, canção escrita por Darci Rossi, Laudarcy Ricardo de Oliveira e Sergio Soletti, termina o baile. Os casais se dispersam, o falatório começa. Mas sob os feixes de luz roxo e vermelho que descem do projetor, um único casal continua. Sem música, agarrados e colados, continuavam. Lembrei da voz calma de Elis Regina em Dois pra lá, dois pra cá , do tango hipnótico dançado por Al Pacino e Gabrielle Anwar na pista vazia do filme Perfume de Mulher. Pensei em, acabado o momento do casal, perguntar a eles sobre o que presenciei. Mas não fiz, não tinha esse direito. O clube estava cheio, mas a pista, não. Aquele momento era só deles, e eu, como um ladrão de coisas belas, os furtei. Não me arrependo.
Apesar de me sentir à primeira hora como um estranho no ninho, comecei a lembrar dos meus avós. Eu conheci em vida apenas minha avó materna, mas quando me dei por gente, ela já não andava ou se comunicava com clareza. Por fim, ela nos deixou ainda nos meus 6 anos. No interior do Paraná, de onde minha família é, os bailes já foram tradição. Fico imaginando se ela e meu avô dançavam, se dedicavam carícias um ao outro para, de mãos dadas, bailarem. Eu gostaria de ter visto isso, e a saudade de algo que nunca vivi começa a bater.
Quem interrompe o pensamento é Sônia, uma senhora que chega atrasada no baile, já próximo do fim, e não quer perder tempo. “Você dança valsa?”, ao que respondo, meio sem jeito: “um pouquinho”. No momento em que me embrenhei entre homens e mulheres que não perdem tempo, e que talvez não possam mais, vi também que eles não tinham saudade de nada. Não queriam lembrar do tempo em que contribuíram com a previdência social, em que Celly Campello ou Blitz ainda eram sinônimos de popularidade, em que não podiam se dar ao luxo de serem pacientes ao tirar uma moça para dançar. Eles só queriam estar ali até as 17h30, quando o salão se transformava para receber os mais moços. Essa dança com Sônia me remete à minha família, que há tempos não vejo. Ela me leva aos bailes da vida, que com meus avós, bisavós e outros mais, podem estar guardados. Essa pista de dança é minha também. Por poucos minutos, a dama é minha, a dança é minha, a vida do baile da saudade é só minha. E a saudade, também.
A saudade é minha 142

quase todos os olhares levam ao esquecimento
Felipe Worliczeck Martins

Se a vida fosse um livro, ele seria analfabeto. Se fosse dança, ela não saberia o compasso e, quando fosse valsa, sambaria. Se fosse um filme, seria mudo em preto e branco, não por intencionalidade, e sim por desconexão com a realidade.
A última coisa que quero é que as analogias que fiz acima pareçam piegas, pedantes ou pretensiosas. Busco dizer com minhas comparações difusas que nunca consegui me encaixar dentro do jogo que é a convivência.
Sempre me senti alienado em grandes cidades, e isso me causa desconforto e agonia extenuantes na convivência diária da metrópole. Sonho em viver no campo, longe das maquinações industriais.
Imagino que agora você entenda minha apreensão quando fui designado a cobrir a Rodoviária de Curitiba. Em fins de semana normais, a rodoviária registra mais de 10.000 pessoas, além de receber 35 empresas de ônibus. Movimento, gente, celeridade, cidade. Evito ao máximo frequentar esses lugares, talvez por uma falsa sensação de conforto.
Felipe Worliczeck Martins 145
Fui com a cabeça feita: tentaria me “jogar”, conversar com as pessoas, me sentir pertencente ao local onde tantos caminhos se cruzam e logo depois se dissolvem, legados ao lapso da história. Iria sugar o tutano da vida, para, quando voltasse a minha casa, não descobrir que não vivi¹.
A chegada à rodoviária, porém, provou-me que a elaboração de um plano é mais fácil que sua execução. Tentei falar com um taxista, mas ele mal me escutou. Tentei abordar um casal para uma entrevista, mas o segurança me encaminhou para a administração.
O desconforto e a vergonha alheia da minha simples presença em um lugar que me rejeitava assaltou a minha psique novamente. Abro a porta da administração, cuja sala pequena possui piso de piscina, com cadeiras rodeadas de computadores. Assim que tenho permissão para falar, conto qual é o meu problema. E então um senhor, com sobrancelhas grossas e o cabelo longo em um rabo de cavalo, escondido por debaixo de uma touca, me diz:
— Pode dizer que o Félix te autorizou, o Número 1 — em um tom que mescla a imponência com a jocosidade.
Sinto uma estranha acolhida e descontração com os fiscais da rodoviária, que eu imaginara, no meu preconceito, serem os reis do tédio. Me convidam para entrevistá-los. Sento-me em uma das cadeiras do pequeno escritório.
José Félix de Oliveira Neto é o tipo de pessoa que não é preciso indagar para que fale. Me conta de tudo que lembra, de sua história de vida até a sutil arte da locução da rodoviária, tudo isso em menos de 20 minutos.
A rodoferroviária foi inaugurada em 13 de novembro de 1972, e Félix, como gosta de ser chamado, trabalha nela desde sua criação, embora os colegas de trabalho discutam o ano exato de sua admissão.
A rodoviária passou por uma reforma em 2014, e o site dela diz que “não dá vontade de sair de lá”. Os fiscais, que controlam desde o comércio até a segurança, nunca foram consultados sobre a reforma. Durante a conversa com eles, cujos nomes exatos não declararei para proteger seus empregos, foram elencados problemas de acessibilidade e corrupção da rodoviária, que, segundo eles, sofreu apenas uma maquiagem: “O arquiteto e o engenheiro
¹ Paráfrase de frase do livro Walden, do escritor Henry David Thoreau.
Quase todos os olhares levam ao esquecimento 146
que fizeram isso aqui nunca pegaram um ônibus”, tirando, sem querer, sarro de Rubens Meister, arquiteto curitibano lendário que ajudou a construí-la.
“A gente pode até tentar melhorar, mas você sabe que o sistema não deixa, né?”, dispara um dos fiscais. Sua frase não poderia ser mais verídica. Quando tentava falar com alguém, precisava de permissão e, para obtê-la, precisava de autorização. Nesse centro cosmopolita kafkiano, o lema pode ser resumido em: “Burocracia, burocracia”.
Félix vai bater seu ponto e o acompanho. É incrível como a hospitalidade de uma pessoa pode apagar, pelo menos paliativamente, a hostilidade de um lugar inteiro. Ou talvez até do “sistema”, termo tão genérico mas, ao mesmo tempo, tão presente. Sinto-me um pouco mais confortável para prosseguir com minha missão.
Por fim, Félix delineia um retrato do Brasil que se desenha entre as paredes de seu escritório: “A pessoa vem pedindo ajuda para achar o ônibus, pergunto a empresa [de ônibus] e ele me diz: senhor, eu sou desempregado, minha empresa faliu.”
O conforto, porém, dura pouco. Para resumir minha próxima meia hora na rodoviária, digo isto: pense na sequência mais genérica de portas sendo fechadas na cara de alguém em qualquer filme B. Depois de levar tantas negativas, desanimo. Tento jogar minha sorte, porém ficou mais tragicômico ainda: a lotérica, que os fiscais disseram ser um dos poucos centros de comércio visitados na rodoviária, está fechada.
A angústia me pega de soslaio, e volto a ser criança, quando sentia o mais agudo nervosismo apenas por andar em um shopping cheio. Paro, e depois ando pela rodoviária, numa espécie de contração e retração das minhas habilidades sociais. Passo parte da tarde e início da noite nela, para ver se, como um organismo vivo da cidade, ela apresenta sístole e diástole, alguma grande mudança. Mais uma decepção: a única diferença é uma leve chuva que molha os ônibus, agora, depois da tal reforma, apenas semicobertos.
Me encontro em busca de alguém para conversar. Um engravatado conta a sua história de vida a uma garçonete pouco interessada, mas, novamente, preciso de aval para falar com qualquer um deles. Um homem
Felipe Worliczeck Martins 147
alto e forte não quer dar entrevista. Não se sente importante, visto que só está ali para passear.
No meio da frieza, que eu não sei se é curitibana ou apenas
institucional, encontro uma fagulha de calor: Fábio Marcel. Homem com jovialidade impressionante e voz que acalma pela gentileza. O corretor de imóveis veio na rodoviária algumas vezes, mas, assim como os fiscais, encontrou pouca acessibilidade. A conversa curta me alimenta como gasolina no tanque para ir mais adiante. Acho uma loja cujo nome, na correria, esqueci de pegar. Pense em qualquer loja de rodoviária: vários cacarecos da cultura pop, com um preço mais salgado que os lanches da lanchonete ao lado.
Nathaly Aline Braga cobre turnos esporadicamente lá, e me atende com uma simpatia que eu ainda estranho em meio a tantos olhares erráticos e grosseiros. Ela conta sua história de vida, que se mescla com a de muito brasileiros: saindo de casa aos 17 anos, trabalhou com tudo que era possível, em busca de estabilidade. Como viajou muito, acabou comicamente em uma rodoviária. Ela, diferentemente de mim, encontra um certo refúgio no não lugar².
Pergunto-me quantas pessoas como essas existem no dia a dia. Será que, na antiga rodoviária de Curitiba, hoje Terminal do Guadalupe, existiam pessoas como eu, apreensivas a cada passo que dão? Mais importante ainda: será que alguém estava lá para ajudá-las nessa dança da vida, que muda da valsa para o samba em um compasso?
Um não lugar é um espaço esvaído de qualquer significado e identidade, muitas vezes, transitório. Tateamos por esses espaços, em um misto de letargia e inquietação, à espera de um guia que nos ajude a dar ordem para a entropia prosaica. Nesse mundo de não lugares e não pessoas, quase todos os olhares levam ao esquecimento.
² Conceito criado pelo sociólogo Marc Augé .
Quase todos os olhares levam ao esquecimento 148

curitibanos gostam de gentileza e atenção
Quase Todos os Olhares Levam ao Esquecimento
149 Giovana Bordini

Quando a pauta do refeitório mais popular de Curitiba me escolheu, tentei me preparar da mesma forma como sempre me preparo para ir a qualquer lugar que não conheço. O primeiro passo, além de uma breve pesquisa na internet, é ir atrás de fotos do restaurante, para tentar me familiarizar com o local. Os passos seguintes consistem em encontrar alguém para me acompanhar e programar um dia de semana para ir. Nessa oportunidade, minha fiel escudeira nessa missão foi minha amiga de infância, Leticia.
Minha breve jornada da universidade ao Centro de Curitiba foi feita com o “Princeso”, nome carinhoso que minha amiga deu ao ônibus de linha que sai do Quississana, bairro em São José dos Pinhais, e tem como destino o terminal do Guadalupe. Aventurar-me por uma Curitiba, que, em certa medida, faz parte de minha vida, percorrendo-a quase toda a pé, realmente não era o que eu esperava passar em uma sexta-feira ensolarada.
Giovana Bordini 151
O grande prédio nas cores vermelho, verde e amarelo pode ser visto de longe, ainda mais por estar localizado na Praça Rui Barbosa. O movimento que se direcionava ao prédio colorido começou uma quadra antes da praça, quando dois senhores com coletes de uma loja popular de sapatos brotaram na minha frente. Eles tinham pressa, presumi que tínhamos o mesmo destino e que, provavelmente, compartilhávamos da mesma preocupação: se haveria muita fila no restaurante popular. Finalmente, percebi que não estávamos errados em nos afligirmos com isso.
Chegando por lá, notamos que havia fila, mas não era tão grande, já que a compra do bilhete para a refeição era feita de forma ágil pelas atendentes que ficam atrás de pequenas janelas em uma parede amarela. Tanto para mim quanto para Letícia, aquela era nossa primeira vez no restaurante mais popular de Curitiba e, mesmo estando perdidas, resolvemos seguir o fluxo, agir como todos ali, porém fingindo um certo costume com algo que nunca fizemos. Pessoalmente, estava cercada pelas mais diferentes e anônimas personalidades que frequentavam o lugar, porém, entre elas, havia moradores de rua, trabalhadores, estudantes, que, em sua maioria, aparentavam ser universitários, além de idosos.
A refeição do dia era arroz branco, feijão, bisteca de porco, polenta amarela, salada e melancia, um cardápio elaborado por nutricionistas. Tudo por apenas três reais. E mesmo que a capacidade de atendimento seja de até 4.700 refeições por dia, cada pessoa tem direito a comprar até dois bilhetes de refeição.
Ao sairmos de uma fila, entramos em outra que já se formava desde a rampa verde do lado esquerdo, mas que continuava em direção à entrada do restaurante. “Você vai na frente!”, disse Leticia trocando de lugar comigo, quase que bruscamente e complementou: “Eu tô aqui com você”.
As coisas começaram a ficar mais rápidas à medida que nos aproximávamos das portas de vidro do restaurante, porém foi nesse instante que me dei conta de que já estávamos próximas das catracas de entrada do restaurante. O movimento de pessoas nessa entrada era ainda maior, pois, além de ser o início da fila do bufê, é também o local de retirada das marmitas.
Curitibanos gostam de gentileza e atenção 152
Ao entrarmos finalmente e passarmos pelo lavatório, peguei uma bandeja e comecei a deslocá-la pela esteira para que meu prato fosse servido. A comunicação com os atendentes que nos servem é feita através de um vidro, entretanto, pelo grande fluxo de pessoas, é praticamente impossível escutar qualquer coisa. Na minha frente, havia uma mulher de altura mediana, com feições duras, vestindo uma blusa vermelha e com uma grande mochila nas costas. Ela agia de forma cautelosa, com certa determinação e, ao mesmo tempo, emanava uma espécie de confiança, de modo que criava uma barreira para que ninguém a abordasse. Mas, paralelo a isso, quando eu a observava com mais atenção, ela aparentava não estar tão confiante. A curiosidade talvez tenha me invadido naquele momento e, inconscientemente, após termos nos servido de quase tudo o que o Restaurante Popular tinha a nos oferecer, com exceção da salada, segui a moça de blusa vermelha pelo salão até onde ela estava sentada. Letícia foi atrás de mim.
Ao me deparar com ela em frente a sua mesa, disse: “Olá! Você se importaria se eu me sentasse aqui?”. Foi a forma mais cordial que pensei para abordá-la, enquanto equilibrava uma bandeja acinzentada em minha mão. Após a mulher me olhar dos pés à cabeça, ela acenou com a cabeça. Ela puxou suas coisas para o lado, abrindo espaço para que eu me sentasse ao seu lado. Um “Fique à vontade!” foi o complemento de sua ação convidativa. Após isso, minha amiga se acomodou na cadeira ao meu lado para almoçarmos.
Quase que com “um olho no peixe e outro no gato”, fui absorvendo ainda mais o ambiente à minha volta, olhei para as pessoas, as composições aleatórias de gente espalhada pelas mesas do restaurante. Tudo era extremamente acolhedor e agradável. Era um ambiente de trégua, onde a rapidez e a calmaria pareciam andar juntas e em harmonia. Porque, conforme acreditava Betinho, “quem tem fome, tem pressa”. Pressa para se alimentar, pressa de voltar para o trabalho. Mas, também, quem tem fome quer saborear uma refeição, seja aquela a única do seu dia, ou apenas mais uma.
Após algumas garfadas em meu prato, precisei começar a agir e conversar com alguém. Entretanto, ninguém melhor do que a mulher que estava sentada do meu lado. Assim, a melhor forma de abordar alguém, se
Giovana Bordini 153
a pessoa permitir, em qualquer lugar é fazer a célebre pergunta “Você vem sempre aqui?”. Entre uma conversa bem aleatória e repleta de meias verdades da minha parte, consegui fazer com que uma completa desconhecida confiasse em mim.
Cláudia, a moça de blusa vermelha, não deveria ter mais de trinta anos, e tinha uma tatuagem em letra cursiva atrás da orelha esquerda que dizia “Fé”. Ela me contou que desde cedo estava no Centro, deixando seu currículo de auxiliar de cozinha, mas que, até aquele horário, não tinha obtido sucesso em sua busca. Após a mulher ter falado sobre estar desempregada há pouco tempo, nossa conversa se aprofundou, porque comentei que minha mãe estava na mesma situação inclusive, além de como estava difícil obter qualquer retorno nessa busca.
Entre garfadas e uma conversa cordial, formamos um pequeno vínculo naquele momento. Fui até aconselhada a não largar os estudos e não ter filhos com a minha idade, o que talvez tenha revelado para mim algo a mais sobre sua história. Ao nos despedirmos, agradeci a conversa e desejeilhe muita sorte na busca por um novo emprego, mas me surpreendi quando sua resposta foi “Eu que tenho que te agradecer. Muito obrigada pela sua atenção!”.
Já fora do restaurante e após termos atravessado a rua, tanto Leticia quanto eu estávamos extremamente curiosas sobre o parecer que tanto uma como a outra tinha sobre a refeição. Assim, depois de alguns minutos de discussão, entramos em um consenso: a bisteca de porco e a melancia eram uma delícia. Mas eu ainda diria que a polenta amarela também era bem saborosa. Nós duas nos abstivemos na votação sobre o feijão e o arroz, pois enquanto minha amiga não é muito fã de arroz branco, o feijão também não é meu prato preferido. Porém, aquela foi a melhor e mais completa refeição que poderíamos ter feito por três reais no centro de Curitiba.
Curitibanos gostam de gentileza e atenção 154
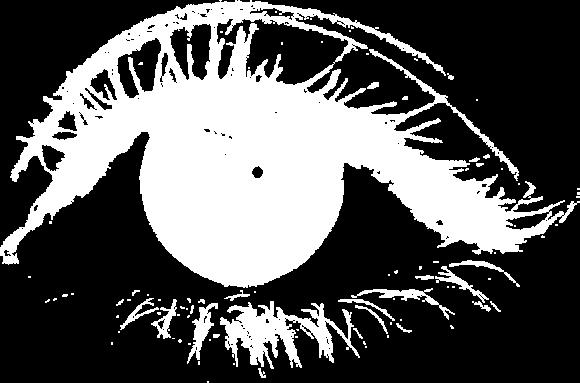 Juliane Capparelli encontro de idas e vindas
Juliane Capparelli encontro de idas e vindas

Curitibana há 20 anos, achei que a Rodoviária de Curitiba fosse um local familiar para mim, mesmo que as últimas memórias que tenho de lá sejam de mais de 10 anos atrás. Em um sábado qualquer, sigo em busca da minha Missão Gonzo: vivenciar um período no terminal. Saio de casa por volta das 16 horas com meu namorado Felipe, quando os últimos raios de sol ultrapassam as janelas do carro. Andando pelo centro da cidade, em um dia tipicamente indeciso de 23° graus, com muitas nuvens a esconder sem dar espaço ao sol, percebo que os poucos relances do lugar do qual recordava eram vagos.
Mas, quando estacionamos o carro, a ansiedade chega como consequência do medo do desconhecido. Eu não sabia o quê nem quem eu iria encontrar. Ao descer do carro, vejo o estacionamento quase cheio de veículos, contrastando com o baixo movimento de pessoas circulando na rodoviária. O sol reaparece e desenha um caminho entre os pilares de concreto, dando vida ao que era cinza. Caminhando pela faixa de piso tátil, uma mulher de cabelos pretos chanel me aborda e com a respiração ofegante e amedrontada, pergunta se eu e o Felipe gostaríamos de comprar as balas de goma que escondia com um casaco entre o tronco e o braço.
Juliane Capparelli 157
— Eu tô vendendo uma balinha. Cê quer comprar pra ajudar a construir a minha casa?
Em um só dia, vejo vendedores ambulantes oferecendo mercadorias diversas vezes e penso que essa era apenas mais uma tentativa. Já me preparo para agradecer e dizer que não tenho interesse em comprar. Mas observando-a, percebo o comportamento agitado que me intriga, e antes que nós pudéssemos dizer qualquer palavra, ela fala novamente:
— Eu só não mostro (as balas), porque senão o segurança vem e me toca daqui — apontando para a caixa de doces.
Mesmo assim, digo que estou sem nada, apenas fazendo um trabalho da faculdade. No mesmo instante pergunto se deseja participar e ela nega, já saindo de perto. Quando olho para o lado, a mulher já havia sumido no vazio de 63 mil m² da Rodoviária, sem que ao menos eu soubesse seu nome. O olhar aflito e a sensação de estar constantemente fugindo me impactam. Começo a reparar ao redor e não vejo pessoas em situação de rua ou outros vendedores. Ali, entendo que o fluxo de quem pode ou não frequentar o espaço público é selecionado a dedo.
Continuo em busca de alguém com alguma história para contar, mas há uma imensidão silenciosa. Ouço apenas os pássaros e o barulho dos motores dos ônibus distantes. Na área de passagens, no andar superior, um homem ao lado de um casal abraçado me chama a atenção. Kevin Cristian Camargo, de 25 anos, balança as pernas sem parar e com um olhar baixo. Sinto a ansiedade e a inquietude em meu corpo, é como se as horas não passassem.
De Campo Largo, ele preferiu aguardar sentado, em uma cadeira sem espuma, o ônibus que passaria somente às 21 horas. Impaciente como sou, me coloquei no lugar dele e não consegui imaginar uma situação muito agradável. Apesar disso, Kevin me impressiona e diz que está confortável, com o otimismo de encontrar o pai em Ivaiporã, município do Paraná, com cerca de 32 mil habitantes. Sem visitar a cidade natal e o pai há quase um ano e meio, Kevin não esconde a saudade que sente da família e de seu lar, que deixou há três anos para ir em busca de novas oportunidades e trabalho.
A rodoviária é frequentada por ele apenas quando vai atrás de suas origens e de carinho no interior, e a espera torna-se um mero detalhe
Encontro de idas e vindas 158
quando o destino importa mais do que o percurso. A ausência de movimento e barulho causa estranheza no rapaz, que compara quando “não tinha nem como andar com tantas pessoas indo de um lado para o outro”, no final do ano de 2020.
Enquanto converso com ele, o ônibus Princesa dos Campos passa na via que divide a rodoviária em duas e ecoa seu som de motor livremente entre as partes com vãos na arquitetura. O Expresso faz parte de uma das 73 empresas que atuam no local. Além das máquinas, outro som é constantemente transmitido pelos espaços: os avisos gravados. Repetida duas vezes a cada 15 minutos, uma mensagem alerta os viajantes a não aceitarem caronas de estranhos e chamarem um táxi ou um motorista de aplicativo.
Em uma loja de conveniência, fui buscar o que ajuda muitos passageiros a se distraírem e transformarem horas em minutos: os livros. Observo de longe antes de entrar e vejo a atendente que aparenta estar fatigada. Yasmim Alice, de 21 anos, trabalha há apenas dois meses na livraria que vende refúgio e companhia para quem deseja viajar só com a imaginação. Com o pouco tempo de experiência, ela conhece muitas pessoas, mas poucas histórias.
Enquanto converso com ela, um homem entra, pergunta o preço de uma obra com o valor colado no verso do livro, agradece e dá uma das justificativas mais genéricas quando não há o interesse em comprar.
— Quanto tá esse aqui?
— Deixa eu ver — diz a funcionária.
— Ah, R $ 12. Então tá, obrigado, depois eu volto pra pegar.
Se ele realmente voltou, eu não tenho como afirmar, mas sem dúvidas, Yasmim escuta essa desculpa muitas vezes por dia. A alta rotatividade do local dificulta a construção de relações mais aprofundadas e cada um segue o seu percurso cronometrado. Além disso, a pandemia de Covid-19 também contribui para o aumento da distância entre os sujeitos.
O local recebeu 3,4 milhões de pessoas a menos em 2020, uma queda de 55% do movimento se comparado com as 6,1 milhões do ano anterior, sem restrições e medidas sanitárias.
Juliane Capparelli 159
Quando o caminho de raios solares dá espaço para as luzes coloridas brilharem, refletindo em cada pilar concretado e posicionadas à frente, o cenário do terminal se transforma. Próximo das 18 horas, a lentidão vira correria, os ponteiros do relógio giram mais depressa e vejo as cenas em timelapse. É como se o dia todo passasse em uma noite. Com movimentação, a rodoviária é abastecida para realizar sua função vital: conduzir seus usuários 24 horas por meio de várias artérias intermunicipais, municipais, interestaduais e internacionais — e com a garantia de que eles chegarão ao destino.
O relógio em frente à Avenida Affonso Camargo — instalado em 2002 na caixa de água —, construído para referenciar os horários dos transportes, acende e guia o fluxo de ônibus e a vida de quem fica. Em meio a pessoas correndo, rodinhas deslizando e portas abrindo e fechando, a iluminação da rodoviária destoa com a escuridão e a calmaria da noite. Ali, uma nova jornada inicia, em outro ritmo, hábito e rotina. E eu sinto a sensação de fim de expediente, de dever cumprido ao não desviar o meu rumo.
Voltando para casa, fico me perguntando quantas narrativas cabem nos milhões de passageiros que passam por ano pelo terminal de separações e reencontros. A rodoviária, com 49 anos, já passou por muitas transformações e melhorias em seus 18.102 dias de funcionamento, mas, principalmente, por fazer parte da vida de cada viandante.
Encontro de idas e vindas 160
 Maria Eduarda Cassins
bolha cultural
Maria Eduarda Cassins
bolha cultural

Às 8 horas de uma manhã gelada de sábado em Curitiba, saí da minha casa sentindo um frio de 13°C ao ir até o centro da cidade. Chegando ao tubo Estação Central, uma raiva me consumiu por inteira ao ver a Rua Marechal Deodoro fechada para a realização de uma manifestação religiosa, a Marcha para Jesus, que acabou sendo utilizada para fazer apelo político a favor do atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Foi imensa a minha indignação diante da proteção feita pelos policiais a uma pessoa que nunca protegeu a própria população brasileira. Esse sentimento me levou ainda mais rápido ao meu destino: a Biblioteca Pública do Paraná. Chegando a esse monumento arquitetônico de 8,5 mil m², avistei prateleiras gigantescas recheadas por um acervo de mais de 730 mil livros. Meus pais sempre me contaram das vezes em que passavam longas horas das suas próprias juventudes ali, para escapar da realidade. Já eu queria que essa fosse a minha realidade. A cada passo que eu dava adentrando aquele ambiente de janelas enormes e piso geométrico, sentia os meus pulmões se enchendo de ar,
Maria Eduarda Cassins 163
cultura, conhecimento, pessoas interessantes, histórias… Isso me preenchia naquele momento! De forma positiva, não agoniante como o café da manhã que eu tomei e acabou não me caindo tão bem.
Logo que olhei ao redor, observei jovens lendo juntos, estudando juntos, idosos lendo revistas, pessoas trabalhando em seus próprios computadores, e até mesmo famílias conhecendo o local. Pelos três andares da Biblioteca, o silêncio absoluto também ocupava um grande espaço, mas foi só eu me sentar perto de uma janela que me senti indo para longe de mim. Mal eu sabia que o cantinho que achei para carregar o meu celular seria um dos pontos altos da minha observação e escuta.
O barulho lá de fora acabou se tornando perturbador. Por dentro da janela, eu me sentia em uma bolha, como se a cultura e o conhecimento estivessem me abraçando. Já do outro lado o barulho de músicas, gritos, saudações e até a própria voz daquele que não desejo mencionar novamente, me acertavam como um murro no estômago. Eu me vi em contato com dois extremos. Algumas pessoas sábias com um verdadeiro interesse pela humanidade, e pessoas cegas com interesses apenas em si próprias. Não fiquei por muito tempo nesse lugar e logo fui perambular novamente pelos diferentes setores da biblioteca, fundada em 1857. Ao entrar na ala intitulada Seção infantil, subi as escadas do mezanino e continuei com a minha missão até que vi uma pessoa com um semblante muito acolhedor. Seus cabelos em tons de azul e sua jaqueta verde água me cativaram cada vez mais a cada segundo em que eu escutava uma voz na minha cabeça ecoando “Quero fazer amizade’’. Me enrolei por bons 15 minutos e me levantei, disposta a puxar papo. Blue não era tão amigável como achei que fosse. Sua postura era séria, mas as características físicas remetiam quase que a uma figura literária. Com seus 19 anos, já realizou um de seus maiores sonhos: trabalhar em uma biblioteca, e acabou conseguindo a vaga de estágio seis meses atrás — em suas palavras — um “palácio dos sonhos’’. Estudante de Letras da Universidade Federal do Paraná, Blue exerce seu estágio de segunda-feira a sábado com um brilho no olhar. Mesmo com pouco tempo de experiência, histórias nada ordinárias já passaram pelos seus olhos. Como a do morador de rua que lê livros em inglês e estuda semanalmente para o vestibular, conquistando o afeto de
Encontro de idas e vindas 164
todos os funcionários, que mobilizaram esforços para realizar a inscrição do estudante no processo seletivo. Infortunadamente, Blue também já experienciou cenas como quando um homem adentrou repentinamente a ala infantil, bebeu tudo o que estava dentro das canecas dos funcionários em suas mesas, subiu no mezanino e berrou para todos os cantos que ele iria se jogar dali e se matar. Blue foi responsável por correr e pedir a ajuda dos seguranças, o que resultou, felizmente, na solução do problema.
Dando continuidade à minha visita, percebi que a biblioteca estava mais cheia do que eu esperava. Foi quando pesquisei e descobri que, em média, 2 mil usuários frequentam diariamente o ambiente, realizando aproximadamente 500 empréstimos nesse espaço de tempo. Cláudia, um dos dez funcionários que estavam no balcão de empréstimos, me respondeu, aos risos, com a seguinte fala: “Nunca cheguei nem perto de conseguir contar com quantas pessoas eu falei hoje aqui sentada nessa cadeira’’.
E realmente a circulação de pessoas é tão grande, que algumas passam totalmente despercebidas e outras, não. Como o homem de jaqueta vermelha e boné branco que estava lendo uma pilha enorme de jornais na mesa ao lado da minha; um rapaz com cara de intelectual, que passou cerca de quatro horas trabalhando completamente de pé em frente de seu notebook ; as crianças que deixavam escapar gritos ligeiramente repreendidos pelos seus pais; e Felipe, engenheiro civil de 44 anos, que pediu uma edição dos anos 1970 de um jornal impresso.
A minha curiosidade não o deixou quieto e logo fui saber o motivo de seu pedido inusitado. Felipe é intrigado e apaixonado pela história do mercado como um todo. Ao folhear a edição de 2 de outubro de 1971, do jornal O Estado de São Paulo, ele suspirava encantado com cada registro presente nas folhas amareladas. “Isso aqui é uma riqueza, é a internet de antigamente. Não consigo olhar pro jornal e não ficar completamente hipnotizado.” Quando Felipe me disse isso, realmente compreendi o quanto ele estava encantado, já que não tirava os olhos das folhas nem para me responder. A nossa conversa não durou mais que cinco minutos, mas me causou uma série de sentimentos confusos. Senti medo da sua postura frenética, admiração por sua paixão pelo jornal e estranheza, por ele nem sequer se dar ao trabalho de levantar a cabeça para me responder.
Maria Eduarda Cassins 165
Circulando novamente pelo ambiente, entrei na ala intitulada Multimídias, que se destaca em todos aqueles milhares de metros quadrados. Ali se ouvia o som de músicas pop. As paredes são decoradas por diversos pôsteres de filmes e várias televisões estão instaladas para as pessoas assistirem a filmes com um fone de ouvido. Surpreendentemente, quanto mais eu andava pelos arredores, mais encontrava coisas novas, pessoas novas, bolhas sociais novas. Depois de quatro horas por ali, sentei-me em uma sala ampla e alta com poltronas verdes acinzentadas, geometricamente incomuns, quase como fatias de pizza arredondadas. A infinidade de estantes, histórias e culturas me fazia querer ficar ali para sempre, escutando o que cada uma tem a dizer. Quem sabe um dia a minha bolha cultural me permita novamente passar por isso e realizar esse desejo.
Encontro de idas e vindas 166
 Maria Eduarda Souza rumo à denúncia
Maria Eduarda Souza rumo à denúncia

O relógio marca 14h quando desço as escadas, abro a porta e caminho em direção à estação de ônibus mais próxima. O trajeto do bairro Jardim das Américas até o Cabral, local onde se encontra a Delegacia da Mulher de Curitiba, leva aproximadamente 40 minutos, com paradas ocasionais em diferentes estações.
Acompanho com os olhos o interior do ônibus, que naquela tarde de sábado se encontrava razoavelmente lotado. Em uma das paradas, muitas pessoas descem do ônibus de uma só vez e finalmente encontro um lugarzinho na janela para me acomodar. Nessa mesma estação, sobe um homem carregando uma cesta grande de palha preenchida com algo que de longe se assemelha a vários doces.
Logo ele anuncia, com um tom de voz firme e descontraído: “Boa tarde, pessoal, eu vendo cocada de todos os tipos. Vendo para quem já comprou e para quem quer comprar”. Ele então começa a caminhar, cambaleando devido ao movimento do ônibus, e oferece o doce a algumas
Maria Eduarda Souza 169
pessoas. Quando se aproxima de mim, já compro logo três. Fazia um tempo que não comia cocada e estava querendo experimentar.
Passados alguns minutos, chego à Estação do Cabral, mas ainda não sei onde fica localizada a Delegacia da Mulher. Pergunto para uma senhora de cabelos avermelhados, com uma touca de tricô, se poderia me mostrar para qual direção devo seguir. A mulher, em torno dos seus 60 anos, passa a me indicar o caminho, mas quando termina de explicar, questiona angustiada: “A moça está bem? Sofreu alguma coisa?”.
Explico que estou indo à delegacia para pedir informações sobre uma vizinha, a qual me parece estar sofrendo violência moral e psicológica do marido. A senhora então relaxa um pouco a expressão facial, mas lamenta o sofrimento da vítima.
Sigo caminhando pela Avenida Paraná até a delegacia, que desde 2019 passou a funcionar na Casa da Mulher Brasileira (CMB). Abro a porta um pouco aflita e com dúvidas de como denunciar. Embora não seja a vítima, toda a situação é de embrulhar o estômago.
Nos primeiros segundos dentro do local, encontro-me perplexa. Não era o que estava esperando. Imaginava todo o interior daquele prédio lotado de mulheres, já que no intervalo do dia 1 de janeiro até 15 de fevereiro de 2022, a CMB registrou 1.655 vítimas de violência doméstica em Curitiba. Porém, a realidade naquele sábado era de alguma forma diferente. As cadeiras roxas do saguão se encontravam vazias, e dos 7 guichês de atendimento, apenas dois contavam com a presença de atendentes.
Dulce, uma das mulheres responsáveis pelo atendimento, gesticula com a mão pedindo que eu me sente e prossegue a falar no telefone sobre algum assunto pessoal que não consegui compreender direito. Passado aproximadamente um minuto na ligação, dirige os olhos para mim, e acredito que de alguma maneira pôde notar o meu nervosismo, pois inicia falando: “Pode falar com calma, bem. O que precisa?”.
Passo a explicar toda a situação: que venho presenciando discussões intensas entre a minha vizinha, Ana*, e seu marido, Marcos*. Poderia ser qualquer briga de casal, se não fossem os berros e xingamentos que o homem dirige à própria esposa várias vezes ao dia, audíveis para toda a vizinhança, o que torna o caso ainda mais humilhante.
Rumo à denúncia 170
Em certa ocasião, Ana comentou com uma vizinha que não aguentava mais tudo que lhe vinha acontecendo, mas não considerava deixar o marido por medo de alguma retaliação. Segundo o Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA), este é um dos principais motivos que fazem com que mulheres não denunciem seus agressores.
Ao concluir o meu relato sobre o caso, Dulce passa a comentar que embora a circunstância seja complicada, o ideal seria fazer com que Ana se dirigisse até a Casa da Mulher para mais instruções. Ao saber dessa informação, um sentimento de incapacidade toma conta de mim, e passo a reforçar que Ana tem medo e que não sou próxima para exigir tal comportamento da vítima.
Questiono então se teria como ela fazer a denúncia ligando para o 180, a Central de Atendimento à Mulher. A atendente informa com a voz calma e postura relaxada: “Ela até pode, mas isso daí não funciona direito não, é muita enrolação”.
Ao saber dessa informação, tudo que consigo sentir no momento é revolta, afinal, como um serviço de atendimento gratuito à vítima simplesmente não funciona? E como garantir acesso a quem precisa de atendimento imediato?
Para ambas as perguntas ainda não sei as respostas. Enquanto tentava manter a postura, Dulce se levanta e pede para que eu aguarde alguns instantes enquanto checa se a psicóloga do local está presente para dar mais instruções sobre o caso.
Durante o tempo em que fico aguardando, reparo no homem a duas cadeiras de distância sendo atendido no guichê de número 4. Em um primeiro momento, fico surpresa com a sua presença no local, mas depois de alguns segundos, percebo pelo seu tom de voz alto e preocupado que está naquele lugar pelo mesmo motivo que eu — denunciar a violência sofrida por outra pessoa.
“Ela tá me visitando essa semana, mas mora em Manaus e tem medo de voltar e ser agredida novamente”, afirma. Pelo que me parece, sua amiga de muitos anos, moradora de Manaus, está há alguns dias em Curitiba e lhe pediu ajuda para sair de uma situação de violência doméstica.
*Nomes fictícios para preservar as identidades.
Maria Eduarda Souza 171
O homem fica alguns segundos buscando instruções e formas de como ajudar, mas depois de pouco tempo se levanta e caminha em direção à porta. Passados cinco minutos, Dulce retorna ao guichê meio cabisbaixa e informa que a psicóloga precisou sair, mas que no domingo e ao longo da semana estará disponível pela manhã. Depois termina a conversa pedindo para que eu instrua Ana a comparecer no local e receber atendimento psicológico, para que só então eles possam decidir os próximos passos. Agradeço e saio do local. Enquanto ando de volta para a estação, me sinto confusa perante a situação, e sem ter uma visão clara do que fazer em seguida. Posso sugerir que minha vizinha busque por ajuda, mas não sei se será o suficiente para que ela tome essa iniciativa. Lembro dos versos de autora anônima que li na internet:
“Todo dia uma luta todo dia um sofrimento colocam a mão em minha boca depois vivem o lamento.”
Rumo à denúncia 172

a eterna ritualística da vida
Letícia Fortes Molina Morelli

Nosso cotidiano é repleto de tantos rituais que nem nos damos conta. A começar pelo ato de dormir na mesma posição, escovar os dentes com a mão esquerda ou direita, tomar café da manhã antes de sair de casa ou partir para a rotina diária em jejum. Apesar de a palavra “ritual” carregar certa opulência e misticismo, todas as ações rotineiras que desempenhamos de maneira praticamente automática podem ser classificadas como rituais. E elas nada têm a ver com alcunhas negativas que diversas religiões cristãs lhes atribuíram, associando diretamente qualquer ritual religioso ao satanismo, principalmente, os realizados por religiões de matrizes africanas e pela Maçonaria, organização fraterna que, embora não se classifique como religião, requer de seus integrantes a crença em uma força superior que rege o universo.
A espiritualidade, em especial, é o maior ritual de minha vida. Sempre acreditei na existência de um Criador do universo, mas jamais me senti acolhida por uma religião específica, embora tenha recebido a influência
Letícia Fortes Molina Morelli 175
familiar do catolicismo e estudado apenas em colégios confessionais, sendo eles de três denominações religiosas diferentes: católica, luterana e adventista, respectivamente.
Foi apenas ao iniciar nas Filhas de Jó Internacional, a partir de novembro de 2014, que encontrei conforto espiritual através de diversos símbolos, rituais e passagens bíblicas sobre o livro de Jó e que antes desconhecia. Patrocinada pela Maçonaria, trata-se de uma instituição filantrópica criada para mulheres entre os 10 e 20 anos. Mesmo não sendo uma religião, as Filhas de Jó estimulam o desenvolvimento moral e espiritual de seus membros por meio da mesma fonte que a Igreja Universal do Reino de Deus utiliza: a Bíblia. Minha grata surpresa foi descobrir que, assim como na organização da qual participei, há uma forma ritualística pela qual os fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus se conectam com seu Deus cristão.
Antes de entrar no salão principal do templo maior da Igreja Universal do Reino de Deus, localizado à Rua João Negrão, nº 1.510, em Curitiba (PR), me perdi logo na entrada monumental, marcada por cúpulas douradas e arredondadas, janelas em formato de arcos e uma frente triangular, chamada de frontão na linguagem arquitetônica. Após forçar as portas principais do prédio por duas vezes e percebê-las trancadas, não consegui controlar a decepção.
Cogitando a ideia de retornar mais à noite, em um dia que houvesse movimentação na frente do prédio, estava prestes a sair do local, mas uma mulher com cabelos loiros, vestida com um moletom branco de bolso canguru e uma calça pantacourt azul-marinho, passa rapidamente por mim e, em seguida, desce as escadarias laterais que conduzem ao subsolo do prédio. De supetão e com a adrenalina corando minhas bochechas já avermelhadas pelo vento frio da manhã, por volta das 7 horas, cancelo minha corrida no aplicativo. E sigo a mulher, mesmo com o receio de não saber se ela é fiel da igreja ou uma funcionária dirigindo-se a uma área restrita do prédio para começar seu expediente.
Felizmente, chego ao estacionamento com 650 vagas e logo pergunto ao segurança Renato Tavares quando e onde ocorreria o primeiro
A eterna ritualística da vida 176
culto da manhã. Com um sorriso caloroso no rosto, Renato educadamente me corrige a respeito do termo ‘culto’ ao responder:
— Nossa reunião começa daqui a meia hora, no primeiro andar.
É só seguir pelo corredor à esquerda e pegar o elevador que fica na terceira entrada.
Enquanto subo até o primeiro andar, relembro a palavra ‘reunião’ que Renato utilizara há pouco. Ela resgatou minhas memórias de 2014 a 2019, quando era uma Filha de Jó ativa e participava de encontros semanais com meninas de diversas faixas etárias, também chamados de reuniões. “Deve ser apenas uma coincidência”, penso antes de descartar o que, até então, me parecia uma analogia sem sentido, provocada pela intimidação que sentia naquele ambiente grande e luxuoso.
Ao pisar no saguão do primeiro andar e antes de entrar no salão principal onde os fiéis estavam reunidos, ouço o pastor apregoando energicamente algo que me parece uma sessão de livramento. “Me parece que o culto já começou”, penso. Para variar, me sinto desconfortável e intimidada pela segunda vez naquele local, mas, dessa vez, em virtude dos gritos que o pastor direciona a Deus. Me incomodo com a maneira expansiva com a qual ele se expressa, pois ela contrasta completamente com a minha discrição ao orar ou simplesmente abordar o tema “religião” com outra pessoa. Detalhe: não faziam nem dez minutos que eu estava ali.
Me viro e vejo uma mulher bem vestida parada próxima à porta, com um casaco sobretudo na cor preta. Ela nota minha aproximação em direção a ela e pergunta:
— Posso te ajudar, moça?
Nesse momento, me aproximo dela e percebo que vaidade é seu forte. Um corte no estilo chanel dá forma em seu cabelo preto, sedoso e brilhante, enquanto nos olhos tem um delineado preto em formato gatinho e uma leve sombra dourada nas pálpebras realçam sua pele morena. Pergunto-lhe seu nome e, em seguida, se o culto já começou. Com um sorriso largo em seus lábios coloridos com batom pink, Rose Silveira confirma minhas suspeitas e se dispõe a me acompanhar até a porta, para que eu assista ao restante da reunião. Enquanto percorremos a distância de cerca de três metros entre
Letícia Fortes Molina Morelli 177
as portas do templo e a sala onde ocorrem os cultos, não controlo minha vontade e digo:
— Sua maquiagem está linda, por sinal. Queria ter essa coragem de acordar cedo e me maquiar.
— Ah querida, não consigo ficar sem maquiagem. Até porque sou eu que recebo vocês, e se eu não estiver bem vestida, quem vai estar? Eu tenho que tomar banho e me maquiar todos os dias antes de vir trabalhar. Mas nem todo mundo faz isso por aqui, porque a cidade é muito fria! — ela comenta, rindo. Sua risada cessa logo que nos aproximamos da sala de reunião.
— Você não pode fotografar ou filmar lá dentro, tá? — ela me alerta.
Que Deus perdoe minha indelicadeza! Mas meu celular continuou sendo meu maior companheiro naquele local, me ajudando a registrar os principais momentos da reunião. Atravesso o salão gigantesco pelo corredor central, de onde avisto o pastor conduzindo a reunião com um microfone em mãos. De pele morena, cabelo e barba bem aparados, o homem com cerca de 1,80m, cujo nome desconheço e esqueço de perguntar ao fim da reunião, veste um terno cinza, camisa branca e uma gravata vermelha, no mesmo tom do coração que, com a pomba da paz em seu interior, simboliza a Igreja Universal do Reino de Deus.
O pé direito do altar é gigantesco e bastante iluminado, com duas colunas jônicas em destaque nas extremidades, as quais cumprem apenas a função estética e não estrutural. Pertencentes a uma das três ordens arquitetônicas clássicas da Grécia Antiga, as colunas jônicas são facilmente reconhecíveis por duas volutas ornamentais no topo, que lembram conchas em espiral, além de uma altura nove vezes maior que seu diâmetro, arquitrave ornamentada com frisos, vinte e quatro linhas verticais e base simples.
Os raios de luminosidade na parte superior do altar incidem sobre a representação, em dourado, da arca da aliança, símbolo histórico da lealdade de Deus com Seu povo e onde se guardavam os dez mandamentos. A réplica em dourado na parede do altar do templo maior consiste em um baú retangular maior do que a representação original descrita em Êxodo 25, com 1,10m de comprimento e 70cm de largura e altura. No topo da arca,
A eterna ritualística da vida 178
se destacam dois querubins virados de costas um para o outro, cujas asas, também incrustadas de ouro, cobrem a tampa.
Cerca de dois metros à frente da arca, existem duas escadas que conduzem a uma pequena piscina tanto pela esquerda quanto pela direita do altar, com a água impressionantemente limpa e translúcida. No momento em que noto as chaves gregas que decoravam o corrimão das escadas, sou arrebatada pela mesma sensação de grandeza que tive na ocasião em que fui coroada como honorável rainha, o cargo de mais alta responsabilidade pela administração e pelo cumprimento do ritual das Filhas de Jó. Na ocasião, vesti-me pela primeira vez com uma capa de púrpura real de 5 metros de extensão, adornada em suas extremidades com chaves gregas brancas no mesmo formato das que reluziam em dourado naquelas escadas.
Também chamados de meandros, essas chaves eram um dos símbolos mais importantes da Grécia Antiga e costumavam decorar diversos frisos arquitetônicos e cerâmicas, pois representavam a vida eterna e a unidade através de seu desenho contínuo que se dobra sobre si mesmo, reproduzindo o rio Maeander, na Turquia. Nesse instante, sorrio discretamente de alegria ao perceber que o símbolo de um dos momentos mais importantes da minha vida estava presente não apenas em seu local original, a Maçonaria, mas também em um ambiente onde jamais imaginaria encontrá-lo.
Outro aspecto que capta meu olhar é o piso reluzente, com detalhes no formato de losangos em mármore com granito. O pavimento de mosaico do templo maior logo me lembrou o piso do prédio no qual ocorrem as reuniões das Filhas de Jó, chamado de loja maçônica, onde o xadrez preto e branco no piso é considerado um símbolo do bem e do mal os quais fazem parte da natureza humana. Além disso, a Bíblia afirma que o mosaico também é uma representação do piso térreo do templo do Rei Salomão, citado na Bíblia.
Nas paredes laterais de cor bege, diversos vitrais coloridos intercalam desenhos do candelabro judaico de sete velas, o menorá, e de Bíblias, tais como as que repousam no altar onde o pastor conduz a reunião. De seu lado esquerdo, estão quatro Bíblias; ao passo que, à sua direita, estão apenas três e, na sua frente, outro exemplar do Livro Sagrado, utilizado para consulta durante a pregação. O púlpito no qual o pastor se encontra também
Letícia Fortes Molina Morelli 179
é dourado, seu formato arredondado e os escritos em hebraico que ele exibe simbolizam as duas tábuas dos Dez Mandamentos que Moisés recebeu de Deus no Monte Sinai.
Ao perceber as diversas semelhanças com a loja maçônica, que por muitos anos me acolheu semanalmente, sinto-me menos ameaçada e mais acolhida no ambiente da Igreja Universal. Atravesso o longo corredor e me sento do lado esquerdo da décima fileira de cadeiras, próxima ao altar construído com mármore branco e com os escritos “Jesus Cristo é o Senhor” no topo. Há 12 seções com 12 fileiras em cada seção e 12 assentos em cada fileira, contabilizando 144 assentos por fileira e tendo espaço para 5 mil pessoas como lotação máxima.
Do meu assento, vejo os fiéis reunidos ao redor do pastor posicionado no púlpito, dois níveis acima do olhar dos presentes. Mantendo-me distante, apenas assisto à reunião naquele momento, ouvindo o pastor orientar os fiéis a embeber o lenço que cada um segura em mãos dentro de uma bacia com água, tida como sagrada. Ele prega que esse gesto é sagrado, capaz de arrancar qualquer problema de saúde do corpo dos fiéis. Em meio à ação, os fiéis entoam juntos um louvor.
Ao final da canção, uma senhora se aproxima do centro da parte frontal do salão, um nível abaixo do púlpito onde o pastor se encontra, e estende a sua frente uma sacola na cor carmim, com o desenho de uma menorá em dourado na frente. Em seu crachá, vejo o nome Marta Oliveira e, logo abaixo, a palavra “obreira”, cargo que auxilia os pastores da Igreja Universal em suas funções e trabalha para converter novos fiéis. Magra e longilínea, Marta tem cabelos curtos, encaracolados e grisalhos e veste um terno feminino de tweed , com uma echarpe vermelha enfeitando seu longo e alvo pescoço.
Com a sacola carmim estendida à sua frente, a obreira sorri para uma das fiéis, que deposita um envelope contendo o que, mais tarde, descubro ser o dízimo. Naquele instante, contudo, o que me intrigou foi ver outro obreiro borrifando leite aos pés da senhora que fez sua doação. Porém, quando o pastor menciona a história das agruras de Jó, logo me lembro de que ele lavava seus pés em leite durante os tempos de bonança, antes de
A eterna ritualística da vida 180
entrar em estado de miséria e de ser testado pelas calamidades que o Diabo lhe impôs para testar sua fé em Deus.
Nas palavras do pastor, “Para o novo chegar, o velho tem que sair.
Deus quer fazer coisas novas, e hoje é esse dia. Então quando você vier aqui à frente do púlpito colocar no alforje a sua fidelidade e propósito com o dízimo, vou lavar seus pés. Por quê? Porque Jó lembrava dos tempos bons. Em Jó 29, está escrito ‘quando eu lavava meus pés com leite, e da rocha me corriam ribeiros de azeite’. Ou seja, borrifar leite nos seus pés é determinante para que os bons tempos voltem”. Mais uma vez, a mesma referência se faz presente tanto na Igreja Universal quanto na Maçonaria, mostrando que ambas têm mais semelhanças do que diferenças, já que a Bíblia é a base comum.
A reunião seguiu com uma série de procedimentos que descubro fazerem parte do tema do dia, chamado cura divina. Quem me explica a respeito da organização temática nas reuniões da Igreja Universal é o obreiro Guilherme de Freitas, com quem conversei por cerca de quinze minutos ao final da reunião. “No dia da Cura Divina, a gente busca a cura de Deus não só para o corpo físico, mas também para o espiritual”, explica. “Nas sextas-feiras, fazemos a sessão de descarrego. Tem coisas que a gente vê que não é normal, então quando passa da normalidade humana, já é espiritual. Portanto, tem um demônio agindo, e sexta a gente expulsa o mal do corpo das pessoas através de orações.”
No fim da reunião, sentada em uma das cadeiras da penúltima fileira do monumental salão de reuniões, reflito sobre o que acabo de presenciar. Me ocorre que, embora não compartilhem da crença em possessões demoníacas, tanto a Igreja Universal do Reino de Deus quanto a Maçonaria guardam semelhanças provenientes da mesma fonte: a Bíblia.
Penso que, no final, as desavenças entre instituições com princípios religiosos referem-se mais a julgamentos morais sobre o comportamento dos fiéis do que de distinções em termos de crença. Somos existências humanas, frágeis e finitas, dotadas de três rituais específicos: nascimento, amadurecimento e morte. Cada um de nós carrega, em si, um universo particular semelhante à imensidão do universo projetado pelo Criador.
Letícia Fortes Molina Morelli 181

A eterna ritualística da vida 182

os incrédulos também cantam Hare Krishna
A eterna ritualística da vida 183
Maria Luísa Cordeiro

Quem nunca olhou torto para aqueles caras de cabelo estranho andando na praça e perturbando, querendo vender livros? Se você é uma pessoa pura de coração e sem preconceitos, parabéns, essa não sou eu. Pois bem, esta é a história de dois incrédulos participando de um ritual Hare Krishna
A proposta de visitar um ritual tão diferente da minha persona foi, no mínimo, uma ironia do destino, mas claro que não iria passar por isso sozinha. Minha companhia, por livre e espontânea pressão, foi meu namorado, André. Antes de irmos, pesquisei um pouco sobre o assunto. Em vão. Não entendi bulhufas do que estava lendo. No dia anterior, ligamos para ter certeza dos horários. Encontros de segunda a sexta, às 19 horas, e aos domingos, às 17 horas. Tudo certo. Até que… “Tchau, muito obrigada”, disse já desligando. E recebi como resposta: “Hare Krishna”. E agora, o que eu responderia? Tchau? Pra você também?
Maria Luísa Cordeiro 185
E naqueles segundos para decidir o que faria, respondi: “Hare Krishna”. Pensei: será que posso falar “Hare Krishna” sem ser Hare Krishna?
Chegamos na esquina próxima do Largo da Ordem. A casa existe há 13 anos, mas ainda é desconhecida por parte da população. Lá moram em torno de 15 devotos, além das crianças, mas recebem visitantes a todo momento. Tocamos a campainha. Fomos recebidos por um homem jovem, roupas de lenços alaranjados e touquinha vermelha. Thales, adepto há um ano e meio da religião, nos cumprimentou e convidou a subir.
No pé da escada, deveríamos deixar os nossos sapatos, para manter a pureza do local e como sinal de humildade. Subimos descalços. Ao pisar no último degrau, Thales tocou um sino e nos propôs a tocar também, para avisar a Deus que estávamos entrando em seu espaço e aumentar a nossa conexão com Ele.
No andar superior, uma moça loira, de lenços lilases pelo corpo e meias de pelinhos rosa estava em um canto murmurando “Hare Krishna hare hare”. Logo me curvei e disse “Hare Krishna”. Achei que estava superfamiliarizada com os cumprimentos e por dentro dos rituais básicos, quando percebi que, na verdade, ela não estava nos cumprimentando, estava repetindo os mantras como forma de meditação — e eu estava atrapalhando.
Os mantras são uma forma de conexão direta com Deus, uma maneira de purificação da mente e do coração. O mais famoso é: “Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare”. Krishna e Rama são nomes de Deus: a religião é monoteísta, mas seus adeptos compreendem que Deus tem diferentes nomes e aparências. Hare se refere à energia feminina da divindade. Esse mantra é um pedido a Deus para servi-Lo, para ser instrumento de Sua vontade. Deve-se repeti-lo 1728 vezes por dia.
Não é uma sala muito grande, mas é muito confortável e tranquila — talvez pelo tom rosa (ainda que achasse feio). Assim que chegamos, ouvimos: “Hein, estão com frio nos pés? Toma uma almofada para não pisarem no gelado”. Se anteriormente estava tensa, esse pequeno gesto me fez sentir acolhida e bem-vinda naquele espaço.
Em direção ao fundo, me deparo com uma estátua. Admito que, por dois segundos, achei que era uma pessoa incrivelmente imóvel. É a
Hare Krishna
Os incrédulos também cantam hare krishna 186
representação de Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada (eu não sei a pronúncia), o fundador da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna (ISKCON), ou para os mais íntimos: Movimento Hare Krishna. Prabhupada era indiano e aos 70 anos foi de navio para os Estados Unidos. Vivendo na era da contracultura nova-iorquina, ele fundou, em 1965, a doutrina que tem raízes no hinduísmo.
Na frente da estátua, uma placa com a marca dos pés de Prabhupada. Thales nos explica que os pés de uma pessoa santa podem conter suas bênçãos, por isso tocá-los ajudaria a purificar a consciência. Ao lado, uma escultura pequena do Deus Hanuman, homem com cabeça e rabo de macacos, um símbolo de proteção. Na parede, um mural com fotos do líder. Um de seus mandamentos é: “Por favor, distribua livros, distribua livros, distribua livros”. E assim o fazem. Voluntários do templo saem semanalmente para vender livros, e toda a renda arrecadada vai para a manutenção das atividades.
Há muitos anos passei na frente do templo e os vi entregando comida para pessoas em situação de rua. Esse é um projeto criado pelo fundador da ISKCON, depois de ver um cachorro e uma criança brigando por um prato de comida. A orientação é que, em um perímetro de 10 km² em torno de um templo, ninguém pode passar fome. Diariamente, eles entregam em torno de 200 refeições gratuitas e vegetarianas.
Nossa conversa é interrompida. O ritual irá começar. Homens vão para um lado, mulheres ficam do outro. De pé no canto da sala, vejo que todos se ajoelham e encostam a cabeça no chão. Repito o movimento. Abaixo a cabeça, mas deixo o suficiente para poder verificar o próximo passo. Por que estou fazendo isso? Para quem? Esse primeiro gesto é um sinal de reverência para as deidades.
Quando levanto, o altar se apresenta diante de mim. As cortinas vermelhas são puxadas e as imagens divinas se revelam. Se as roupas dos participantes são modestas, é no altar que esbanjam ostentação.
São três andares. No andar mais próximo do chão, dez flores amarelas estão expostas em frente aos quadros das deidades. No de cima, miniesculturas de Deus. No último andar, buquês de flores brancas e rosas. Do lado das mulheres, um leque azul e rosa é apoiado em dois quadros
Maria Luísa Cordeiro 187
com representações divinas. Do outro lado, o mesmo tamanho de quadros, mas agora com personagens diferentes. No meio do altar, duas esculturas de aproximadamente um metro cada. Figuras humanas, com colares de flores amarelas, vermelhas e brancas, além de acessórios de flores na cabeça. A escultura da esquerda está com uma roupa estampada azul e branca. A da direita, estampada em amarelo e verde-claro. A roupa das esculturas é trocada com frequência.
Enquanto tento prestar atenção nos detalhes, um homem começa a tocar o Mridangam, um instrumento de origem indiana, muito semelhante ao nosso batuque. Ao seu lado está Thales com o instrumento Karatalas, também indiano, que se parece com minipratos. Enquanto eles tocam, as pessoas recitam mantras. A moça de lenços lilases me entrega um papel com os mantras devocionais, mas percebo que não sei compreendê-los. Mesmo transliterado do sânscrito, sinto-me analfabeta, porque a junção das letras me impossibilita qualquer tipo de vocalização.
Durante o ritual, algumas oferendas são apresentadas às divindades e depois trazidas ao público. A ideia é se aproximar, por meio de outros sentidos, de Deus. Krishna Chaytania Das, um dos líderes do local, acende incensos e velas. O cheiro amadeirado atravessa a sala, invade minha máscara e me traz conforto e relaxamento. As velas são trazidas até mim. Devo repousar minha mão no fogo e levar em direção à minha testa, de forma a purificar a consciência. Me apresentam uma das flores amarelas para cheirar. Abaixo a máscara, enfio o nariz e cheiro.
Enquanto ouvia os recitais dos mantras, noto que sou a única mulher com o cabelo à mostra. Nesse momento me sinto desconectada.
Rapidamente puxo a trança que fiz e a empurro para dentro da blusa. Assim como as vestimentas, os cabelos raspados dos homens, e escondidos das mulheres, além de identificá-los, são uma representação do desapego à materialidade.
Enquanto a música continua, começamos a andar em círculos. A música acelera, os passos ficam mais rápidos. Estamos girando e falando por tanto tempo que começo a ficar tonta. Me sinto naquele brinquedo das xícaras giratórias de parque de diversão.
Hare Krishna
Os incrédulos também cantam hare krishna 188
De repente, sinto algo molhado no meu rosto. Já estou pensando que estou suando frio (ou alucinando com a tontura), mas na verdade é uma das moças jogando água em todas nós. A água, assim como o incenso e o fogo, foram oferecidos às deidades e depois repassados para que o público sinta, cheire e toque os objetos apresentados a Deus.
Finalmente podemos parar de girar. Nos abaixamos e curvamos sobre os joelhos, assim como fizemos no começo do ritual. Aproveito o momento para me focar e tentar me recuperar do enjoo. Sentamos e continuamos com novos mantras; dessa vez, a devota recita e os outros respondem com “jaya”, que significa “glória”.
O ritual chega ao fim. Ou quase.
Somos convidados a nos unir na parte de trás do salão. Distribuem almofadinhas e um exemplar do livro Bhagavad Gita — como Ele é. A obra é a tradução de uma parte de um livro maior, o Mahabharata, escrito em sânscrito, um dos mais importantes da literatura védica. Bhagavad Gita é uma conversa entre Krishna e seu devoto, Arjuna. É um guia prático de como viver melhor e se iluminar, abandonando os conceitos materiais de religiosidade e se entregar para Deus.
Sua Graça Caitanya Charan Dasa liderou essa conversa. Ao contrário de outros, ele usava uma marca branca na testa, chamada de tilaka , feita com argila vinda diretamente da Índia. Normalmente feita após o banho, a marca demonstra que seu corpo é um templo de Deus.
A mensagem da noite era sobre a melhor maneira de agir. Krishna explica que há três tipos de ações: karma ; vikarma e akarma Karma são atividades prescritas nas escrituras védicas. Vikarma são ações que vão trazer malefícios para você e para pessoas à sua volta. E, por fim, akarma é o que se busca. Sem karma. É uma maneira de transcender a natureza e a morte.
No meio da discussão, percebo que tudo aquilo está sendo transmitido por uma live. As imagens são capturadas por um… iPhone! O símbolo máximo da tecnologia do século XXI a serviço de uma palavra sagrada de cinco mil anos atrás. Durante o ritual também foram feitos vídeos para o Instagram. Na saída, o antiquíssimo Bhagavad Gita nos é oferecido: aceitam pix ou cartão! O desapego ao mundo material não significa que os devotos vivem em um mundo absolutamente arcaico.
Maria Luísa Cordeiro 189
E, por fim, fomos convidados a jantar. Um dos participantes me serviu um copo com líquido amarelado. O que era isso? Fazia parte do ritual? Não. Era só chá de maçã. Ao beber, me surpreendi. As especiarias, com gengibre e canela, eram uma maravilha ao paladar.
No prato de metal, veio arroz integral, feijão (que parecia pinhão), um salgado assado recheado e uma mistura de alguma coisa. O arroz com feijão, sem muitas surpresas. A mistura, suponho que de couve, batatas e repolho. A aparência esverdeada e a textura pastosa deixavam a desejar, mas, surpreendentemente, o sabor era aceitável, levemente apimentado (o que ajuda na hora de comer) e muito bem temperado. A janta foi muito boa, mas nada se compara ao chazinho, que fiz questão de repetir. Os pratos vegetarianos seguem um dos princípios: a não violência. Com o fim da comilança, também chegou o fim da nossa noite. A simpatia e o carinho nos fizeram sentir muito acolhidos. A religião, em si, me surpreendeu pelo fato de não ser tão surpreendente, mas sim um mix de influências de culturas orientais e ocidentais. A generosidade dos participantes me fez sentir admiração pelo trabalho diário que fazem. A educação de nos receber de braços abertos e dispostos a nos explicar sua fé foi acolhedora. Contemplar um mundo de desapego aos bens materiais foi instigante e, por que não, inspirador.
Hare Krishna
Os incrédulos também cantam
190
hare krishna

Os incrédulos também cantam hare krishna
191 Paula Braga Goveia sábado vegano

Tem dias que a gente não quer sair de casa por nada. Simplesmente, todas as oportunidades que surgem do lado de fora parecem ser menos interessantes do que as de dentro do nosso mundo particular. Aquele sábado era um dia desses para mim. Não só a temperatura estava baixa, na casa dos 11 graus, como a minha energia também se encontrava quase abaixo de zero. Eu não imaginava que algo pudesse me provocar qualquer outro sentimento que não fosse a preguiça, até ver uma publicação sugerida no Instagram. Na imagem, estava escrito “Sábado Vegano”, e abaixo, na legenda, todas as informações sobre o que um instituto de yoga, chamado Nanak Ashram, estava promovendo de forma gratuita. Uma reunião de expositores veganos, com propostas voltadas à natureza, sustentabilidade, espiritualidade, entre outras coisas, que me fizeram, de maneira instantânea, esquecer todo o desânimo que me assombrava horas atrás. Além da feira, também seriam realizadas diversas atividades, como prática de Kundalini e Hatha Yoga, ativação bioenergética, meditação, Sound Healing e dança
Paula Braga Goveia 193
indiana. Eu, que me considero uma pessoa voltada para essa visão holística, achei a oportunidade ímpar, e não pensei duas vezes para estar presente.
Ashram, na Índia, é um local onde as pessoas vivem em paz e harmonia em meio à natureza, buscando autoconhecimento, sabedoria e paz. Chegando ao instituto, percebi como esse nome fazia sentido. O Nanak Ashram tem uma estrutura incrível, e fica localizado junto a um dos maiores parques de Curitiba, o Parque Barigui. Uma casa grande, amarela e com um jardim belíssimo, que se mistura com a paisagem verde e ampla do parque logo à frente. Para chegar até a entrada, eu passei por uma espécie de portal, feito com arcos grandes e floridos. Na recepção, havia um dispenser de álcool em gel e lugares para deixar os sapatos ou protetores para os calçados. Pensei, a essa altura, que de fato seria uma experiência de purificação. Dei meu primeiro passo para dentro e olhei para todos os cantos, tentando assimilar os elementos da sala. Logo Sach Ratii, um dos organizadores do evento, vestido com trajes de iogue indiano, se aproximou, muito gentilmente, e perguntou se eu estava sozinha. Eu disse que sim e, em seguida, ele fez uma explicação detalhada do funcionamento, das instruções e indicou o que estava acontecendo em cada cômodo.
Agradeci e fui em direção à exposição. Lá, estavam cerca de dez mesas com os mais variados serviços e produtos. O espaço tinha um cheiro harmonioso, as pessoas estavam contentes, conversavam em um tom mais baixo, e dava para sentir a energia positiva circular. Tudo tinha uma proposta muito bonita e especial.
A grande maioria do que estava sendo vendido era feito a mão, produzido com recursos naturais, ecológicos, ervas ou plantas medicinais, como é o caso da marca de chás e itens holísticos, Cura Herbal, que lá estava sendo representada pela cativante Daphne Glaser Pohl. Em sua mesa, havia as principais opções de chás, sais de banho, amostras e cartas de tarot que orientavam a escolha da especificidade das bebidas, classificadas por temas como Amor, Calma, Alegria e Sono. Antes de tirar uma carta, com o conselho sobre a combinação das ervas, Daphne sugeriu que eu fizesse uma mentalização, e tivesse claro na minha mente aquilo de que eu estava precisando.
“Siga sua intuição e ela vai te levar ao seu melhor estado.”
Sábado vegano 194
Após isso, eu respirei fundo, identifiquei o pedido em pensamento e selecionei uma carta, confiante de que o meu desejo seria atendido. Com a sugestão do Chá da Calma, a carta me proporcionou algo mágico e reconfortante. Abaixo dessa expressão, estava a figura de um pequeno gnomo deitado na rede, e um texto que era exatamente o que eu precisava ler. Quando terminei, pude perceber como Daphne olhou para o meu sorriso. Foi como ganhar um presente. Nesse instante, ela disse que o herbalismo contribui muito positivamente para nossos fatores existenciais, e me contou que é feliz trabalhando na Cura Herbal já há um ano e oito meses. A expositora também fez um comentário sobre o “Sábado Vegano”, que me gerou certa reflexão.
“Nós estamos aqui trazendo coisas bem diferentes, que considero aberturas para a evolução que a gente, enquanto humanidade, está precisando muito.”
É nítido, todos que estavam ali, expondo ou consumindo, prezavam de algum modo pela consciência ambiental, terapêutica e humanística.
Assim, fui passando por outras mesas, e fiquei instigada pelo jovem com aparência viking que estava fazendo jogo de runas. Para os povos nórdicos, as runas são um presente de Odin e, através da leitura das letras, eles podem fazer visualizações sobre o passado, presente e futuro. Me sentei na frente dele, cujo nome é Rafael Fernandez, e começamos uma sessão. Sem pedir muitos detalhes, ele propôs que eu levantasse uma questão da minha vida, e disse que me aconselharia com base no que as runas mostrassem. Após alguns segundos, ele assoprou as pedras, colocou-as lentamente sobre o tabuleiro, e foi virando uma a uma. Até esse ponto, confesso que estava descrente do poder daquele jogo, mas Rafael me fez uma pergunta-chave.
“Você tem uma viagem marcada?”
Meu estômago sentiu borboletas voando. “Como ele sabia?” Eu estava conversando sobre a minha próxima viagem um pouco antes de ir para o evento. Rafael foi preciso e me guiou brilhantemente até a resposta que eu estava buscando. Cada palavra dita foi se encaixando perfeitamente, e eu não consegui esconder a emoção de estar experimentando mais uma passagem fascinante naquele lugar. Vendo isso, Rafael segurou minhas mãos delicadamente e se despediu:
Paula Braga Goveia 195
“A partir daqui, o seu subconsciente estará enviando sinais. Você verá o que precisa ser visto. Obrigada por confiar em mim.”
Notei que pairava uma sensação diferente, que veio forte e significante. Era como se eu estivesse no caminho de algo necessário, um aspecto de cura interior. Eu estava leve e em completo bem-estar. Para encerrar o dia, que tinha tudo para não ser nada e acabou sendo surpreendente, segui, então, para o cômodo de atividades. Abri a porta e vi que os participantes estavam meditando ao som de instrumentos que emitem frequências poderosas e curativas. Entrei cuidadosamente, me sentei sobre uma almofada, me cobri com uma manta macia e me entreguei àquele momento, com abertura e gratidão. Um verdadeiro encontro com a serenidade. E, por fim, o “Sábado Vegano” foi um dia marcante, capaz de me fazer viajar para o mais profundo do meu espírito, elevando a minha alma para um estado de pura satisfação.
Sábado vegano 196

avante, filhos de fé
Sábado Vegano 197
Vinicius Bittencourt

Fui ao centro de umbanda tomado pelo receio. Por ser católico praticante, adentrei no terreiro conhecido como Pai Maneco, fundado em 1987, sem ter ideia do que esperar e de como me comportar. Enquanto o meu pai me esperava no carro, fui à procura de pessoas que pudessem me dar alguma orientação. Na porta do salão onde acontecem as chamadas “giras”, avistei um indivíduo vestido com uma espécie de roupa branca característica do local. Logo, me apresentei e perguntei o seu nome e sua função no centro. Ele respondeu: “Me chamo Marcelo, sou irmão de corrente”. Fiquei curioso com o que isso poderia significar, mas, primeiro, resolvi perguntar os motivos de ele estar ali e o que significava em sua vida. “Não tem como explicar, é religião”, disse ele. Então, com receio de estar fazendo indagações tolas, pedi a ele para me contar mais sobre a cultura ou me mostrar alguém capaz de sanar as minhas dúvidas. “Eu sei a pessoa certa que pode falar com você”, comentou Marcelo, entusiasmado, me guiando para dentro do salão.
Vinicius Bittencourt 199
No espaço fechado, me deparo com várias cadeiras e bancos formando um semicírculo, de frente para um altar. Curioso, sou apresentado a um homem, que, diferentemente de Marcelo, estava vestindo roupas casuais. Ele se apresenta como Edgar Cavalli Junior, um historiador. Peço, então, uma contextualização sobre a umbanda, revelando ser a primeira vez que entro em um terreiro. Atencioso e com uma notória satisfação por poder falar sobre o seu trabalho, começa a sua aula de história em relação à origem da umbanda. Explica que a religião nasceu a partir da libertação dos escravos africanos, os quais foram para as cidades e deram início a uma concentração de culturas diferentes: “A partir daí, nasceram várias religiões, como a umbanda, que é uma religião mista entre elementos africanos e do espiritismo”. Sem acreditar na sorte que dei de estar na presença de um historiador, decidi tirar as minhas dúvidas: por que ele não estava de branco como alguns outros? E o que era aquele altar?
À medida que perguntava, as pessoas iam entrando e, aos poucos, as cadeiras eram ocupadas. Edgar virou para o altar e eu acompanhei. Como católico, eu reconhecia algumas das imagens que estavam ali colocadas, o que aumentava minha curiosidade. “Este é um congá, ele lembra um altar católico, pois tem as imagens dos santos, que são sincretizadas nas figuras de orixás”, explicou ele. Fiquei surpreso, pois não sabia que a umbanda tinha relação com o catolicismo. Na sequência, explicou que ele era da assistência, denominação dada às pessoas que vão às giras para receberem, por meio de consultas, passe do espírito incorporado pela mãe ou pai de santo, que dão as ordens em todos os trabalhos. “Hoje a mãe de santo não pôde vir, então quem vai comandar será a mãe pequena, minha esposa”, exclamou com um sorriso. Outra função, segundo ele, são os médiuns, responsáveis por incorporar os espíritos e dar auxílio à mãe ou ao pai de santo nas consultas.
Depois de todo o esclarecimento, já não sentia o mesmo receio de estar em um centro de umbanda, cujas atividades eram desconhecidas por mim. Agradeci ao historiador pelo tempo disponibilizado e saí do salão para explorar mais o local. Do lado de fora, em um ambiente bem iluminado, surpreendi-me com a quantidade de gente que havia chegado ao terreiro. Pessoas de todas as idades conversavam enquanto esperavam o início da “gira de Exu”. Ao lado de uma lanchonete, vi um homem fumando
Avante, filhos de fé 200
um cigarro e resolvi me aproximar e fazer algumas perguntas, com o intuito de entender um pouco mais a visão dos frequentadores e o que os trouxera até lá. Sem revelar o seu nome, respondeu, sem hesitar: “Depois de um acidente, eu fiquei com 12 parafusos e uma placa de titânio no braço esquerdo. Fui a vários médicos, que me disseram que eu não conseguiria mais ter o movimento dele. Até que, um dia, um médium me curou sem mesmo tocar no meu braço. Desde então, eu venho aqui todos os dias”. Fiquei profundamente impactado com a resposta, me perguntando como isso seria possível. Mas, antes que eu pudesse fazer mais perguntas, ele largou o cigarro e foi para dentro do salão. A gira ia começar. Sentei-me no fundo para acompanhar um pouco da gira. Edgar havia me dito que o ritual no Pai Maneco dura, aproximadamente, três horas. Sem ter esse tempo, porque meu pai estava do lado de fora me esperando, decidi ficar por alguns minutos. A primeira parte foi composta por um canto, com batidas de um bumbo ao fundo: “Avante, filhos de fé, com a nossa lei não há. Levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá”, ecoava no salão. Na sequência, a mãe pequena, sentada na cadeira colocada ao lado do congá, espalhou uma espécie de incenso sagrado, dando início à cerimônia. Depois de mais alguns minutos, pessoas descalças se aproximavam dos médiuns, ajudadas pelos irmãos de corrente. Falas, gritos, choros, tudo isso era possível ser escutado no salão. As pessoas que não iam até o altar, recebiam, na própria cadeira, o passe, o que, na ocasião, era destinado a problemas de saúde. Alguns, até mesmo, levantavam e mexiam o corpo, como em uma dança desajeitada. Ao fundo, o canto e o ritmo das batidas do bumbo eram alterados à medida que cada espírito era evocado.
Quando decidi sair, fiquei refletindo sobre o que presenciei ali dentro: como uma religião pode ser tão diferente da outra? De volta ao meu mundo, me sinto satisfeito por ter tido contato com outra cultura. E, na minha forma de fé, rezo pela vida de cada uma das pessoas que lá conheci.
Vinicius Bittencourt 201
Há uma afirmação do poeta Pablo Neruda que considero perfeita para descrever a dinâmica da publicação de um livro: “Escrever é fácil: se inicia com uma letra maiúscula e terminase com um ponto final; no meio, colocam-se palavras”. O que temos, aqui, nessa interessante obra, são ideias inseridas, ou melhor, experiências relatadas por meio de palavras. As experiências aqui narradas – e tenho certeza de que o leitor se sentirá parte delas – refletem o jornalismo de proximidade e tê-las em mãos trata-se de uma parceria muito frutífera de nossa Universidade: o livro foi escrito pelos estudantes de Jornalismo, a correção foi efetuada pelos estudantes de Letras e a diagramação e o projeto gráfico realizados pelos de Design; uma parceria que realmente deu certo. Assim, em nome da PUCPR, faço um convite: que observemos a letra maiúscula de cada início de capítulo, que prestemos atenção em cada ponto final, mas, acima de tudo, que sintamos o sabor das experiências que estão no meio disso. Boa leitura!



´































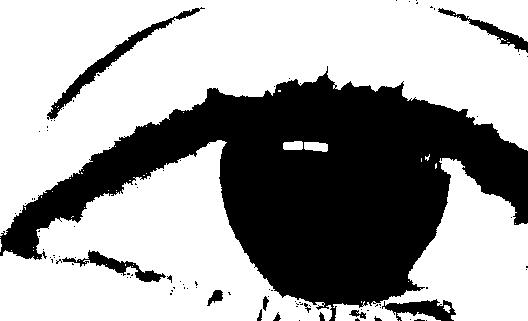
































 Eduardo Veiga Nogueira as donas
Eduardo Veiga Nogueira as donas





 Giovana Bordini o iluminista aristocrático
Giovana Bordini o iluminista aristocrático

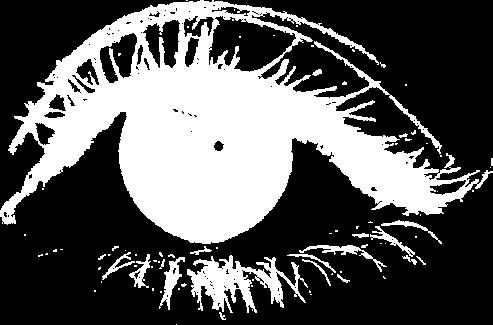


 Letícia Fortes Molina Morelli
sensação térmica: porrada
Letícia Fortes Molina Morelli
sensação térmica: porrada




 Maria Luísa Cordeiro
mistério do Parque Bacacheri
Maria Luísa Cordeiro
mistério do Parque Bacacheri



 Tiago Carraro ponto final
Tiago Carraro ponto final
















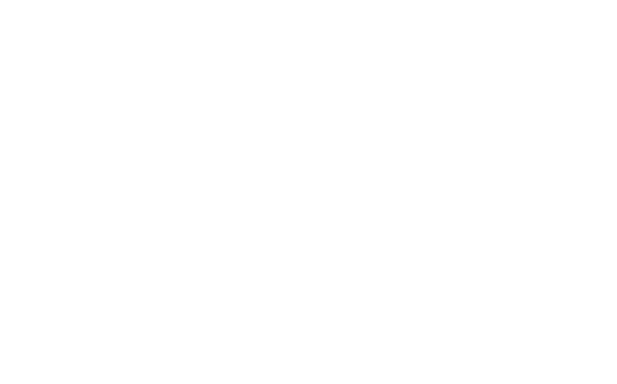










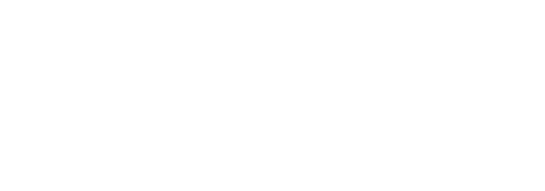































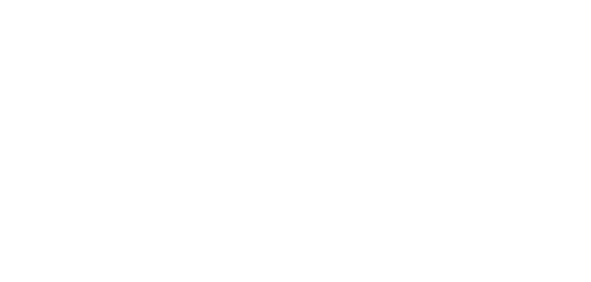










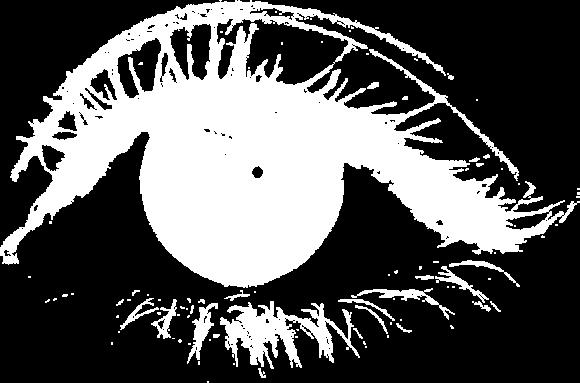 Juliane Capparelli encontro de idas e vindas
Juliane Capparelli encontro de idas e vindas

 Maria Eduarda Cassins
bolha cultural
Maria Eduarda Cassins
bolha cultural










