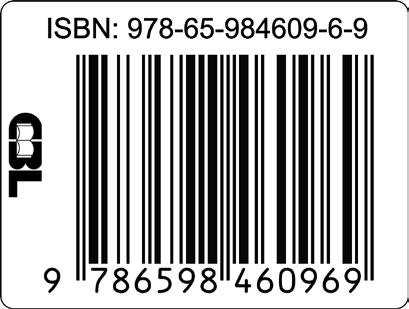CONTEXTO HISTÓRICO
Ministério da Cultura e Banco do Brasil apresentam:

Ministério da Cultura e Banco do Brasil apresentam:
Apoio
Realização
Produção Coprodução
Salvador. Bahia —2024

Ricardo Sizilio
Banco do Brasil apresenta e patrocina Vila Velha, por Exemplo – 60 Anos de um Teatro do Brasil, uma exposição que mostra a vida de um teatro construído e gerido por artistas, que se reinventou com a cidade e os tempos.
O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) será vizinho do Teatro Vila Velha e, a partir desse momento, as duas histórias passam a dialogar, criando um potente parque artístico, junto com outras organizações, no Corredor Cultural do Centro de Salvador.
Enquanto prepara sua instalação definitiva no Palácio da Aclamação, o CCBB já se faz presente na cidade com programação em parceria com diversos espaços culturais, a exemplo do Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), que calorosamente nos acolheu para a realização desta importante exposição.
Ao realizar este projeto, o CCBB reafirma o compromisso de ampliar a conexão dos brasileiros com a cultura e com a valorização da produção cultural nacional. Viva! O CCBB chegou à Bahia.
Centro Cultural Banco do Brasil
O Teatro Vila Velha retoma o projeto Cadernos do Vila a partir da publicação dos artigos curatoriais para a exposição Vila Velha, por Exemplo: 60 Anos de Um Teatro do Brasil, patrocinada pelo Centro Cultural Banco do Brasil. São quatro Cadernos nos quais os conteúdos são apresentados e aprofundados, oferecendo uma outra experiência ao leitor no contato com o vasto material histórico e iconográfico que compõe o Acervo do Teatro Vila Velha.
Mais do que um teatro que exibe produções artísticas diversas – o que já seria muito –, o Vila é um espaço de construção cidadã através da arte. Atento e consciente de sua responsabilidade frente às questões do tempo, tem uma história marcada pelo ativismo em seu palco, mas também em espaços públicos diversos, em Salvador, em cidades do interior da Bahia e pelo mundo afora.
Essa série de quatro publicações dentro do projeto Cadernos do Vila foi pensada para oferecer ao leitor a história do teatro, mas também das diversas relações construídas durante seu percurso de décadas. Adentrar essa história é acompanhar trajetórias de artistas e coletivos de arte, militantes sociais e políticos, gente das periferias e dos postos de comando. Também é conhecer como determinados fatos da história do Brasil levaram o Vila a se superar, reinventar-se tantas vezes quantas se fez necessário, sempre defendendo aquilo que lhe é inegociável: sua independência.
O Cadernos do Vila Volume 5 – CONTEXTO HISTÓRICO abre a série. Um conjunto de textos que trazem fatos históricos e seus desdobramentos, colocando-os em diálogo com a trajetória do Vila, contextualizando atravessamentos e enfrentamentos ocorridos desde que a Sociedade Teatro dos Novos formou-se, em 1959, até os tempos atuais.
A exposição Vila Velha, por Exemplo: 60 Anos de Um Teatro do Brasil viabiliza a reunião de vasto conteúdo que passa a ser disponibilizado a pesquisadores e ao público em geral. Os novos volumes do projeto Cadernos do Vila (de 5 a 8) já são um dos desdobramentos do levantamento histórico e iconográfico empreendido para a exposição. Outros virão.
Boa leitura!
Teatro Vila Velha
PETRÓLEO, GUERRA,
DEMOCRACIA E DESENVOLVIMENTO 1939 - 1959
DEMOCRACIA, DITADURA E ABERTURA 1960 - 1979
Ricardo Sizilio
Entre o final da década de 1930 e início dos anos 1940, a Bahia e o Brasil conheceram o despertar de importantes transformações. A descoberta do petróleo (1939) na região do Lobato, em Salvador, e o início da sua produção comercial (1941), em Candeias, no Recôncavo baiano, geraram modificações significativas na sociedade, economia e cultura do estado, que atuou como principal produtor de petróleo do país. O Brasil ainda vivia em meio ao regime ditatorial do Estado Novo (1937-1945), no limiar das políticas desenvolvimentistas, quando o “ouro negro” (como ficou conhecido o petróleo no período) foi um fator singular nos projetos modernizantes pautados no intervencionismo estatal.
Nesse processo, a partir de 1946 as questões acerca da administração do petróleo intensificaram-se. Era tempo de investir na exploração da nova descoberta, e a Constituição aprovada naquele ano abria brechas para a possível participação do capital estrangeiro na indústria petrolífera. Diante disso, partidos, grupos militares e civis que defendiam o monopólio estatal na exploração do petróleo travaram grandes embates no cenário político com aqueles que acreditavam que as parcerias com empresas estrangeiras eram o melhor caminho na exploração do mineral.
Nesse cenário, em 1948, o presidente Eurico Gaspar Dutra enviou ao Congresso Nacional um anteprojeto do Estatuto do Petróleo, recebido por parte dos parlamentares como uma declarada intenção de abrir o mercado de combustíveis para a iniciativa privada e estrangeira. Em decorrência, e temendo a cooptação do petróleo brasileiro pelas multinacionais, partidos políticos e organizações da sociedade civil deram início à campanha de protestos intitulada “O petróleo é nosso!”. A campanha teve grande aderência entre a população,
protestando em favor do monopólio estatal sobre o petróleo. Vitoriosa em suas reivindicações, impediu a tramitação e aprovação do anteprojeto do Estatuto, contribuindo para a aprovação da lei que criou a Petrobras, em 1953.
Na Bahia, após sua criação, a Petrobras teve como um dos seus patrimônios a Refinaria Landulpho Alves-Mataripe, localizada no Recôncavo baiano, em São Francisco do Conde. A inauguração da refinaria, em 1949, trouxe impactos significativos na economia e sociedade da região, que até então vivia principalmente da agroindústria da cana-de-açúcar.
Nesse contexto de transformações econômicas e sociais a partir da exploração do petróleo, o Brasil também mudou politicamente. A proximidade do fim da 2ª Guerra Mundial (1939-1945) trazia consigo o enfraquecimento da ditadura varguista, tendo em lente as contradições da participação das forças nacionais ao lado da Aliança na defesa da democracia no ocidente europeu. Assim, o ano de 1945 viu o fim da guerra no cenário global e, no Brasil, a convocação de eleições diretas após 15 anos da Era Vargas. No processo de restabelecimento da democracia, as eleições de 1945 contaram com a legalização dos partidos excluídos da política pela ditadura varguista.
Na Bahia, Otávio Mangabeira, que foi perseguido e exilado durante o regime de Vargas, retornou à política e foi eleito governador do estado em 1947, contando com o apoio, inclusive, do Partido Comunista do Brasil, que atuou legalmente entre os anos de 1945 e 1947. Durante seu governo, Mangabeira implementou uma série de reformas e projetos de desenvolvimento, com ênfase na educação e infraestrutura.
A criação da Universidade da Bahia (depois Universidade Federal da Bahia), em 1946, potencializou as transformações nas áreas de educação e cultura nas décadas seguintes. A instituição foi responsável pela formação técnica e o incentivo às expressões artísticas, com a incorporação de faculdades já existentes, como a Escola de Belas Artes (1947) e a Escola Politécnica (1948), além da criação de outras unidades. Surgem a Escola de Música (1954), a Escola de Teatro e a Escola de Dança, ambas em 1956.
A universidade foi um importante vetor da produção cultural na Bahia, tendo o professor Edgard Santos na reitoria. A partir do
engajamento com artistas de diversos lugares do país e do mundo, a instituição recebeu renomados profissionais, especialmente das artes, para criação e ampliação dos cursos ofertados, como Eros Martim Gonçalves, Gianni Ratto, João Augusto, H. J. Koellreutter, Ernst Widmer, Walter Smetak e Yanka Rudzka. Em 1950, a arquiteta italiana Lina Bo Bardi chegou a Salvador para dirigir o Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), que também se tornou parte do circuito cultural da cidade.
Dentro desse caldeirão de novidades, a figura do educador Anísio Teixeira como secretário de Estado de Saúde e Educação, na gestão Otávio Mangabeira, também foi importante. Entre as iniciativas e projetos desse período destacam-se a criação do Salão Baiano de Belas Artes, em 1949, com a Divisão Moderna, que buscava integrar a Bahia ao movimento modernista em voga no Brasil e no mundo. A Escola Parque foi uma das iniciativas mais emblemáticas de Anísio Teixeira na Bahia. Inspirada nas ideias de educação integral e de comunidade-escola, a Escola Parque foi concebida como um complexo educacional que integrava ensino acadêmico, atividades culturais, esportivas e recreativas.
As décadas de 1940 e 1950 transformaram profundamente a capital do estado. Com o crescimento vertiginoso da população na capital, as obras urbanas buscavam redistribuir tal contingente entre os espaços do município, abrindo novas avenidas e vias, estimulando a ocupação dos locais periféricos, objetivando, inclusive, transformar a primeira cidade do país em uma metrópole moderna.
O Modernismo, que emergiu no final do século XIX e início do século XX, com suas implicações extensas e que duraram décadas, desde a literatura até a arquitetura, passando pela música e o teatro, buscou uma nova identidade cultural, rompendo com o passado e integrando influências internacionais de forma criativa e inovadora. A ambiência baiana, especialmente de Salvador, foi campo fértil para o seu desenvolvimento.
Na política nacional, os anos de 1950 foram intensos, e o suicídio de Getúlio Vargas (1954), em meio a um mandato conturbado, agitou ainda mais o cenário brasileiro. A partir da chegada de Juscelino Kubitschek à presidência (1955), o desenvolvimentismo acentuou-se, com a construção de grandes obras, rodovias e usinas hidrelétricas. O mandato de JK também introduziu
as empresas automobilísticas estrangeiras no Brasil, visando incentivar o comércio do setor. Porém, o marco mais significativo de seu mandato foi a construção de Brasília em 1960, que, além de ser o símbolo da modernização, passou a ser o Centro Administrativo e a sede do governo federal. Mas o alto custo da sua construção e as precárias condições de trabalho trouxeram à tona algumas das problemáticas do desenvolvimento acelerado, impulsionando as críticas ao governo.
A Bahia, por sua vez, imersa no processo de urbanização e industrialização, crescentes desde a descoberta do petróleo, passou pelo crescimento da região metropolitana e pelo processo de migração dos trabalhadores rurais para os centros urbanos locais, fenômenos comuns em meados da década de 1950. Esse cenário gestou o aumento das demandas por melhores condições de vida e trabalho, contribuindo para a formação de novas iniciativas e movimentos sociais. Entre as profundas e contínuas mudanças, cresceram os sindicatos e os movimentos operários. O Sindicato dos Trabalhadores da Indústria e o Sindicato dos Comerciários da Bahia, ambos criados em 1957, foram exemplos desse processo de crescente articulação.
As ruas da cidade de Salvador tornaram-se mais cheias. Lugares como o centro da cidade e o Rio Vermelho tornaram-se eixo de encontro para artistas, músicos e intelectuais. A boemia baiana então nasceu no bojo dos eventos urbanizantes. Músicos, artistas plásticos modernistas e escritores frequentemente se encontravam, enriquecendo mutuamente suas práticas artísticas. Nesse ínterim, a Bossa Nova surgiu, no final dos anos 1950, com raízes profundas no samba que ecoava das periferias nas grandes cidades e influenciada pelo jazz norte-americano, que alcança o Brasil no cenário de maior abertura internacional do pós-guerra. A bossa também refletia o estilo de vida de uma classe média urbana que se expandia com o crescimento econômico do país e que compunha as novas boemias.
E é nesse clima de expansão da participação popular na política, nessa efervescência artística, com o país em metamorfose, com a luta dos trabalhadores por melhores condições de vida e trabalho, modernização do país e das cidades, que a década de 1950 abre espaço para os anos seguintes, marcados por profundas tensões políticas, que culminaram na implantação da ditadura militar no Brasil.
Em um ambiente político cada vez mais polarizado, principalmente após o suicídio de Getúlio Vargas (1954), o início dos anos 1960 presenciou o crescimento, mais uma vez, da sombra de outro período autoritário. A eleição de Jânio Quadros, com uma plataforma de moralização da política, e sua rápida renúncia em 1961, na tentativa de retornar ao poder nos “braços do povo”, agitaram ainda mais a cena política brasileira. De tal forma que a posse do vice-presidente João Goulart foi impedida pelos setores conservadores e militares. Jango, identificado com o trabalhismo e apoiado por forças democráticas e da esquerda, era visto com desconfiança pelos militares e pelas elites conservadoras, que temiam uma guinada socialista no país, tendo em perspectiva a conjuntura internacional dos conflitos político-ideológicos da Guerra Fria (1947-1991), protagonizada pelos Estados Unidos e pela União Soviética, que também exercia influência no pensamento social e político brasileiro.
Durante dias as tensões se acentuaram, surgindo a proposta para João Goulart assumir a presidência a partir da instituição de um sistema parlamentarista de governo. Tal proposta não foi aceita unanimemente e acontecem mobilizações populares e até mesmo de algumas alas dos militares. A Campanha da Legalidade, liderada por Leonel Brizola, é um exemplo disso. Envolveu a mobilização de tropas militares e a disseminação de propaganda favorável à legalidade constitucional, na defesa de que Jango assumisse a presidência incondicionalmente. No entanto, a Emenda Constitucional foi aprovada, sendo adotado o regime parlamentarista, que reduziu os poderes presidenciais. Isso fez com que, em setembro de 1961, Goulart assumisse a Presidência da República, tendo Tancredo Neves como primeiro-ministro.
Não obstante as turbulências políticas do início da década de 1960, o avanço econômico e as transformações urbanas no Brasil e na Bahia ao longo das décadas anteriores potencializaram diversas movimentações culturais. Tendo a Universidade Federal da Bahia como polo difusor de ideias e um dos eixos dessas movimentações no estado, estudantes e professores se engajaram nos debates ideológicos em voga no país e no mundo. As revistas estudantis da universidade, como Ângulos e Mapas, foram difusoras de discussões culturais e de propostas de leituras de mundo inovadoras. Ademais, a articulação dos movimentos estudantis passou por ampliações no início da década, sendo os Diretórios Acadêmicos e o Diretório Central dos Estudantes, além da União dos Estudantes da Bahia, importantes espaços para a formação política da juventude universitária.
Outro local de sociabilidade de Salvador era o Museu de Arte Moderna da Bahia, inaugurado em 1960 no foyer do Teatro Castro Alves. No ano seguinte, o cinema também foi introduzido ao espaço, em uma parceria com o Clube de Cinema da Bahia. Essa ambiência inspirou e foi produto de um Ciclo de Cinema Baiano, embrião de ideias e cineastas do Cinema Novo. Após o lançamento de Rio 40 Graus (1955), o movimento de valorização do ser brasileiro nas telas do cinema tomou força no país e na Bahia, onde cineastas ainda ensaístas, como Glauber Rocha e Roberto Pires, produziram seus primeiros curtas-metragens buscando explorar o experimentalismo e mostrar a realidade baiana. O impulso por retratar um mundo com questões sociais marcadas pelo subdesenvolvimento e desigualdade tinha origem nas referências ideológicas em voga no ambiente artístico do período.
Nesse cenário, combinando parte dos anseios de expressão cultural dos artistas envolvidos com a militância estudantil, inspirados pelos movimentos revolucionários em diferentes partes do mundo, como Cuba, China e alguns dos países africanos, o Centro Popular de Cultura (CPC) foi criado em 1961, no Rio de Janeiro, ligado à União Nacional de Estudantes (UNE). O CPC articulou projetos voltados para construção de uma “cultura nacional, popular e democrática”, visando conscientizar a classe trabalhadora, e influenciou a produção artística no território nacional.
Concomitantemente a tudo isso, as agitações populares também se faziam sentir no meio rural. As Ligas Camponesas, fundadas
por Francisco Julião em Pernambuco, foram um dos principais exemplos de organização rural. Elas buscavam a reforma agrária e a defesa dos direitos dos trabalhadores rurais, enfrentando a resistência dos grandes proprietários de terra. Em paralelo, nas áreas urbanas, sindicatos e movimentos operários começaram a se organizar de forma mais efetiva, lutando por melhores condições de trabalho e direitos trabalhistas, principalmente por meio das greves. Diante da pressão exercida pelos setores sociais e da condição política instável, o governo enfrentou a situação por meio de reformas “de cima”, como a sindicalização dos trabalhadores rurais e a criação do 13º salário. Todavia, em 1962, diante da falta de apoio às reformas e do contínuo declínio do parlamentarismo, o presidente do Conselho de Ministros e o seu Gabinete optaram pela demissão coletiva, acelerando o processo de retorno ao presidencialismo.
Nesse contexto, em 1963 um plebiscito fez com que o Brasil retornasse ao presidencialismo. O Comando Geral dos Trabalhadores (CGT), uma das mais importantes entidades sindicais da época, teve papel crucial na mobilização popular a favor do retorno ao presidencialismo. Reunia diversas entidades sindicais e trabalhistas do país e reivindicava a implementação de reformas de base, acirrando ainda mais as tensões políticas e sociais no Brasil. A reforma agrária era uma das principais demandas do CGT e de Goulart, tendo em perspectiva a desapropriação de terras improdutivas para redistribuição entre pequenos agricultores. Ademais, ainda compunha as “reformas de base” a reforma urbana, visando à melhoria das condições de vida nas cidades, além das reformas educacional e fiscal.
É nesse contexto que, em 13 de março de 1964, João Goulart fez o histórico discurso na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, reafirmando seu compromisso com tais reformas. Em sua fala, Goulart anunciou a assinatura de decretos que regulamentavam a reforma agrária e a encampação das refinarias privadas de petróleo. O discurso gerou grande apoio entre os trabalhadores e os movimentos sociais, mas acirrou a oposição de setores conservadores, militares e do empresariado, que viam nas propostas de Goulart uma ameaça. Diante do evidente acirramento da política no país, combinado a fatores externos, o comício da Central do Brasil adensou o clima de tensões que culminaria no golpe militar de 31 de março de 1964.
A movimentação de tropas militares de Minas Gerais em direção ao Rio de Janeiro é um marco no processo golpista. O presidente João Goulart, sem apoio suficiente para resistir, seguiu para o Rio Grande do Sul, ao passo em que o general Olímpio Mourão Filho iniciou a marcha das tropas, que rapidamente ganharam o apoio de outras unidades militares. Após o golpe, a ditadura que se seguiu impôs uma dura repressão política e cultural, utilizando a censura e a perseguição para silenciar a oposição. Ao mesmo tempo, o regime tentou promover uma cultura nacionalista que reforçasse sua ideologia e legitimidade, resultando em um período complexo e contraditório para a cultura brasileira.
Na Bahia, durante esse período, as atividades culturais em curso sofreram alterações com as novas limitações do regime imposto. O Teatro Vila Velha, inaugurado em 31 de julho de 1964, poucos meses após o golpe militar, desde o início se destacou como um espaço de inovação artística e de resistência cultural. A Sociedade Teatro dos Novos, grupo responsável por sua fundação, tinha uma postura crítica em relação ao regime, utilizando o teatro como plataforma para expressar ideias de liberdade e democracia. Além do teatro, o cinema também encontrou formas de reconfigurar-se e seguir existindo com as Jornadas de Cinema da Bahia, nos anos 1970. Na música e demais artes não foi diferente. A formação da Tropicália e a construção do Tropicalismo, nos anos 1968 e 1969, afetaram estruturalmente o setor artístico no período. Os artistas precursores do movimento sofreram gravemente com a censura e a perseguição, sendo impelidos ao exílio, como nos casos de Gilberto Gil e Caetano Veloso.
A ditadura militar instaurada estabeleceu ainda uma série de Atos Institucionais (AIs) que serviram como instrumentos legais para consolidar e perpetuar o regime autoritário. O mais emblemático dos Atos Institucionais foi o AI-5, de 1968. Ele permitiu o fechamento do Congresso Nacional, a intervenção em estados e municípios, a suspensão de direitos políticos, a censura prévia e a prisão de opositores sem necessidade de justificativa judicial. Esse ato marcou o auge da repressão durante a ditadura.
No mesmo ano de aprovação do AI-5 acontecia a II Bienal da Bahia, que reuniu obras de diversos artistas brasileiros e estrangeiros, refletindo as tendências vanguardistas e experimentais da arte contemporânea. A censura foi aplicada rigorosamente ao evento e várias obras de arte foram consideradas subversivas pelo
regime militar e “presas”, com a destruição de algumas. A bienal foi fechada pela polícia sob a acusação de promover conteúdo contrário aos interesses do governo.
Em resposta a tudo que estava ocorrendo, grupos de oposição armada surgiram contra a repressão política e a falta de liberdades democráticas. Entre os mais conhecidos estavam a Ação Libertadora Nacional (ALN) e a VAR-Palmares, que tinham como principais líderes, respectivamente, o militante baiano Carlos Marighella, ex-deputado e líder comunista, e Carlos Lamarca, capitão do Exército Brasileiro. O governo militar respondeu com uma intensa campanha de repressão e os agentes do DOI-Codi e do Centro de Informações do Exército (CIE) utilizaram tortura, assassinatos e desaparecimentos para desarticular os focos de resistência.
Também defendendo a luta armada como meio de derrubar a ditadura, a Guerrilha do Araguaia foi um movimento insurgente organizado pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB), entre 1972 e 1974, na região do Araguaia, no sul do Pará. E da mesma forma a repressão contra a Guerrilha do Araguaia foi brutal. Muitos guerrilheiros foram capturados, torturados e executados sumariamente, com os militares destruindo aldeias e intimidando a população local.
Lutando contra a ditadura em um momento em que a repressão se acirrava, artistas de diversos segmentos, como do cinema, música e teatro, contestavam o regime autoritário, entusiasmados com o movimento contracultural estadunidense. Criticados pela esquerda armada, esses artistas foram denominados pejorativamente como desbundados, despolitizados e alienados. Mas, de fato, o desbunde representou uma alternativa política da juventude brasileira, uma forma de contestação não armada, mas também subversiva.
E todos os que lutaram contra a ditadura, de forma armada ou não, foram perseguidos pelos militares. Essa repressão era camuflada para a sociedade em geral, em virtude do “milagre brasileiro”, que corresponde ao período de grande crescimento econômico no Brasil entre 1968 e 1973. Esse fenômeno foi marcado por altas taxas de crescimento do PIB, industrialização e investimentos em infraestrutura. No entanto, o “milagre” também teve consequências sociais e econômicas significativas, incluindo a ampliação das desigualdades e o endividamento externo.
E o fim da ditadura ocorreu em um contexto de pressões internas e externas por uma abertura política, contribuindo para isso o aumento da inflação e da dívida externa, que mostraram os sinais de fim do suposto milagre vivido até então. Nesse processo, em fins dos anos 1970, movimentos de direitos humanos ganharam força, denunciando os abusos cometidos pelo regime. Assim, em 1979 foi decretada a revogação do AI-5 e a Lei de Anistia foi promulgada, permitindo o retorno ao país de diversos artistas, políticos e intelectuais que foram obrigados a deixar o Brasil. E, sem dúvida, a anistia demonstrou simbolicamente que a ditadura não duraria muito mais tempo.
Em fins da década de 1970 e durante os anos de 1980 o Brasil vivenciou um período crucial na sua história política, caracterizado pelo processo de redemocratização após mais de duas décadas da Ditadura Militar (1964-1985). Esse processo, conhecido como abertura política “lenta, gradual e segura”, iniciado no governo do general Ernesto Geisel, foi marcado por uma série de eventos e transformações que culminaram na promulgação da Constituição de 1988 e na eleição presidencial de 1989.
Um significativo marco nesse processo de abertura foi a aprovação da Lei de Anistia, promulgada em 1979, já no mandato do general João Figueiredo. A lei permitiu o retorno de exilados e a libertação de presos políticos, porém também concedeu perdão aos agentes do Estado que atuaram nos aparelhos repressivos. A década de 1980 foi marcada por uma profunda crise econômica no Brasil. A alta inflação, estagnação econômica e o crescente endividamento externo compuseram o cenário. Como fatores, deve-se considerar o aumento nos preços do petróleo nos anos 1970, que fez com que a economia brasileira sofresse intensos impactos. Ademais, o “milagre econômico” brasileiro (1968-1973), baseado em enormes empréstimos internacionais, com a elevação das taxas de juros, fez a dívida pública se tornar insustentável. Com isso, a inflação, combinada às medidas econômicas internas frustradas, produziu grande insatisfação popular.
Politicamente, diante da luta pelo fim da Ditadura, em 1982 foram convocadas eleições diretas para governadores dos estados, após quase duas décadas de nomeação indireta para o cargo. Apesar disso, o pleito se deu a partir do “voto vinculado”, quando o eleitor escolhia apenas candidatos do mesmo partido para o Legislativo e o Executivo. Na Bahia, o candidato do Partido Democrático Social (PDS), João Durval Carneiro, foi eleito para suceder o então governador do mesmo partido, Antônio Carlos Magalhães. No seu mandato, João Durval deu continuidade aos projetos do seu antecessor e com isso a ocupação do miolo de Salvador teve sequência, sendo construídas novas avenidas,
além de ser inaugurado oficialmente o bairro de Cajazeiras. Também na gestão de João Durval foram criados os Centros de Cultura em sete municípios do estado, com projeto arquitetônico de Silvio Robatto, que também foi responsável pelo desenho do primeiro prédio do Teatro Vila Velha.
O setor artístico-cultural viveu altos e baixos entre os anos de chumbo e a lenta transição para o regime democrático. O povo baiano, por sua vez, desenvolveu novos ritmos musicais e expressões artísticas nesse ínterim. Os blocos afros, em expansão desde a década de 1970 em Salvador, passaram a ter maior visibilidade.
Destaca-se o bloco Ilê Aiyê, criado no bairro da Liberdade em 1974, reunindo referências do samba, dos candomblés, além de beber na fonte das lutas globais por emancipação racial em curso. O bloco mobilizou a população negra baiana em desfiles no Carnaval de Salvador, reafirmando a sua identidade racial nas músicas e vestimentas, mesmo em meio à intensa repressão. Desse modo, o Ilê foi inspiração para criação de outros blocos afros no final dos anos 1970 e início dos anos 1980, como o Olodum, o Muzenza e o Ara Ketu. Nesse contexto, o músico Neguinho do Samba criou um novo ritmo que embalou os festejos momescos, o samba reggae, combinando o samba tradicional a elementos do reggae jamaicano. Esse caldeirão de ritmos e expressões foi essencial para o fortalecimento do Carnaval de Salvador nos anos seguintes.
Os blocos afros também serviram de base para a criação do axé enquanto ritmo musical. A combinação de elementos do samba, frevo, reggae e outros ritmos afro-caribenhos fez nascer o axé music no início da década de 1980, tornando-se um dos gêneros mais populares no Brasil. O ritmo foi impulsionado por artistas e bandas, como Luiz Caldas, Chiclete com Banana e Daniela Mercury, que cantavam em cima dos trios elétricos no Carnaval, arrastando multidões pelas ruas de Salvador e de cidades pelo Brasil.
Toda a inventividade na Bahia nas últimas décadas da ditadura dialogava diretamente com a crescente necessidade de liberdade. A década de 1980 foi um período de expansão dos movimentos sociais no Brasil, incluindo o movimento negro e o movimento feminista. Ambos desempenharam papéis fundamentais no processo de redemocratização, lutando por direitos civis, igualdade e inclusão social.
O Movimento Negro Unificado, criado em 1978, foi um marco na organização da população negra que lutava por justiça e igualdade, influenciando, inclusive, os blocos afros na Bahia. O movimento feminista, que passava pela sua segunda onda no país, levou à criação do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, em 1985, ampliando debates sobre os direitos reprodutivos e a violência doméstica.
Com a reorganização do movimento sindical, a criação da Central Única dos Trabalhadores (CUT), em 1983, unificou diversos sindicatos. A CUT tornou-se uma força política significativa, tendo Luiz Inácio Lula da Silva como seu principal líder. No campo, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), fundado em 1984, tornou-se um dos maiores movimentos de reforma agrária do país. Combinado a esses, os movimentos estudantis e os de direitos humanos potencializaram o movimento das Diretas Já, que aglutinou milhares de pessoas em várias cidades do país, entre 1983 e 1984, em favor da convocação de eleições diretas para presidente da República.
Não obstante à luta de milhares de brasileiros, em 1985 Tancredo Neves (PMDB) foi eleito indiretamente presidente da República, com José Sarney (PFL) como seu vice-presidente. Todavia, Tancredo Neves, que era um candidato de consenso entre as forças políticas que defendiam a redemocratização, adoeceu na véspera da posse, falecendo em seguida. Com isso, José Sarney assumiu a Presidência, aprovando em seguida o Plano Cruzado, que tentava equilibrar a economia no país.
Nesse contexto, as eleições gerais de 1986 foram convocadas para escolher os membros do parlamento e os governadores dos estados. Na Bahia, foi eleito Waldir Pires, do PMDB, que tinha longa trajetória de oposição ao regime militar. Na sua gestão foi criada a Secretaria de Cultura da Bahia, ato inédito para o setor, que até então era gerido em conjunto com a pasta da educação. A medida visava promover as ações culturais dos diferentes setores da sociedade baiana e preservar a memória do estado. Também era pretensão do governo abrir um canal de comunicação direta com o recém-criado Ministério da Cultura. Todavia, Waldir Pires permaneceu apenas por dois anos no cargo, tendo renunciado para concorrer à vice-presidência na chapa do seu partido, nas eleições presidenciais de 1989, o que fez o vice-governador, Nilo Coelho, assumir o mandato.
Gradativamente, o Brasil caminhava para virar a página de mais um capítulo autoritário na sua história, sendo passo decisivo para isso a construção e aprovação da Constituição Federal de 1988, conhecida como Constituição Cidadã. Convocada pelo Congresso Nacional em 1985 e instalada em 1987, a Assembleia Nacional Constituinte foi organizada em várias comissões temáticas e subcomissões, cada uma encarregada de discutir e elaborar propostas sobre diferentes áreas. O mais impactante nesse processo foi a intensa participação popular por meio de audiências públicas realizadas em todo o país. Movimentos sociais, ONGs, sindicatos e outras entidades civis puderam apresentar suas demandas diretamente aos constituintes. Após 20 meses de intensos debates e negociações, o texto final da Constituição foi aprovado pela Assembleia Nacional Constituinte. A nova Carta Magna inovou ao incluir uma gama ampla de direitos sociais, ampliar os direitos trabalhistas e avançar na defesa dos direitos humanos e das minorias. Entre outros diversos pontos importantes, a Constituição estabeleceu as bases para a realização das eleições diretas para presidente.
Assim, a campanha eleitoral de 1989 foi marcada pela utilização intensa dos meios de comunicação, especialmente a televisão. O candidato Fernando Collor (PRN), ex-governador de Alagoas, destacou-se por sua capacidade de usar a mídia a seu favor, produzindo uma imagem carismática com o apoio da imprensa nacional. Eleito em 1989, Collor teve seu governo marcado por medidas econômicas do Plano Collor, que incluiu o confisco de poupanças, a privatização de empresas públicas e outras ações que visavam à estabilização econômica. O governo Collor, porém, foi rapidamente envolvido em escândalos de corrupção, impulsionando a insatisfação popular, que encontrou um catalisador no movimento estudantil. Estudantes de todo o país começaram a se organizar, inicialmente por intermédio da União Nacional dos Estudantes (UNE) e da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes).
Com os rostos pintados com as cores da bandeira brasileira, estudantes foram às ruas em 1992 exigindo a saída de Collor da presidência. O movimento conhecido como Caras-Pintadas rapidamente ganhou o apoio de diversos setores da sociedade brasileira. No mesmo ano, o processo de impeachment foi aberto, resultando na renúncia de Collor, o que fez Itamar Franco, o vicepresidente, assumir a presidência.
Simultaneamente aos eventos do conturbado governo Collor, ocorreu um dos episódios mais trágicos e violentos da história recente do Brasil, o Massacre do Carandiru, em São Paulo. O sistema penitenciário brasileiro já enfrentava uma série de graves problemas, incluindo superlotação, condições insalubres e falta de recursos e pessoal adequados. As prisões eram locais de extrema violência e violação dos direitos humanos. Com isso, a intervenção policial violenta, em resposta a uma rebelião na Casa de Detenção de São Paulo, conhecida como Carandiru, resultou na morte de 111 detentos. Liderada pelo coronel Ubiratan Guimarães, a operação foi marcada por execuções sumárias e uso excessivo da força, chocando o Brasil e o mundo. O massacre escancarou ainda mais as falhas do sistema penitenciário brasileiro e a incapacidade do país em garantir o cumprimento dos direitos humanos e da Constituição recém-aprovada.
Em meio ao retorno da democracia, e diante de uma sociedade ainda marcada pelo regime anterior, as eleições municipais ocorreram em todo o país em 1992. Em Salvador, a disputa elegeu para a prefeitura a candidata do Partido Comunista do Brasil, Lídice da Mata. Primeira mulher a ocupar o cargo, Lídice priorizou investimentos em educação, saúde e infraestrutura, além da participação popular na administração pública. Entretanto enfrentou grandes desafios financeiros e críticas sobre a sua gestão, tendo em vista que fazia oposição ao governo do Estado. Porém, isso não a impediu de deixar um legado de inclusão social e representatividade feminina na política.
Nos últimos anos do século XX e início do século XXI o Brasil buscava estabilizar a sua condição democrática e superar o cenário de crises econômicas. Em decorrência das décadas anteriores, no início dos anos 1990 o país continuou enfrentando uma profunda crise econômica, caracterizada por uma hiperinflação que corroía o poder de compra da população e dificultava o planejamento econômico. Diante dessa conjuntura, mais um projeto para lidar com a situação financeira do Estado foi aprovado, o Plano Real, no governo do presidente Itamar Franco. Desenvolvido por uma equipe de economistas liderada por Fernando Henrique Cardoso, então Ministro da Fazenda, o plano introduziu uma nova moeda por meio de um processo de transição. Além da mudança na moeda, o Plano Real incluiu medidas complementares, como a desindexação da economia, liberalização do comércio, reformas estruturais e privatizações de empresas estatais.
Essa nova estratégia conseguiu desempenhar impacto considerável na redução da inflação e proporcionou certa estabilidade econômica após longos anos de crise. A estabilização teve um impacto positivo na redução da pobreza e na melhoria das condições de vida. Com a queda da inflação, o poder de compra da população foi preservado, criando um ambiente mais favorável para investimentos.
Como consequência direta do sucesso do Plano Real, Fernando Henrique Cardoso foi eleito presidente do Brasil em 1994. A campanha de FHC focou fortemente na continuidade das políticas econômicas bem-sucedidas, contrastando com as décadas anteriores. No decorrer do seu mandato, o presidente conseguiu aprovar uma emenda constitucional que permitiu a reeleição aos ocupantes de cargos no poder Executivo, impactando diretamente
nas eleições seguintes. Além disso, algumas das políticas de austeridade adotadas pela gestão FHC levaram ao aumento do desemprego e à precarização do trabalho, especialmente nos setores industrializados. Ademais, o controle fiscal rigoroso exigiu cortes em gastos públicos, gerando a diminuição de recursos para os programas sociais e investimentos públicos.
Apesar disso, a estabilidade econômica que a gestão FHC proporcionou foi fator decisivo para sua reeleição em 1998. O governo seguiu nos diversos setores, inclusive na cultura, um posicionamento de promotor da modernização e da globalização do Brasil, a partir da lógica neoliberal. Sua administração implementou políticas que visavam integrar o Brasil mais profundamente na economia global. Todavia, as reformas econômicas empregadas até então também geraram críticas quanto ao beneficiamento desproporcional entre os setores mais ricos da sociedade, ao passo em que as dificuldades para os mais pobres se intensificavam.
Os novos arranjos dos movimentos sociais, em expansão desde os anos 1980, e a recente estabilização econômica criaram novos horizontes para os brasileiros, que progressivamente exigiam políticas sociais eficazes. Nesse novo quadro, Luiz Inácio Lula da Silva, líder do Partido dos Trabalhadores (PT), foi eleito presidente em 2002, após três tentativas. Sua vitória representou uma mudança de paradigma na política brasileira, com a ascensão de um líder de origem operária ao mais alto cargo político do país. Após os dois mandatos de FHC, marcados pela implementação de reformas econômicas neoliberais, muitos brasileiros buscavam alternativas que promovessem maior justiça social e inclusão econômica. Lula conseguiu capitalizar essa demanda, apresentando-se como um candidato de mudança, comprometido com a redução da desigualdade e a melhoria das condições de vida dos mais pobres, o que fez com que essa eleição fosse vista como uma conquista histórica para movimentos sociais, sindicatos e grupos marginalizados, que viam em Lula um representante legítimo de suas lutas e aspirações.
Os anos 2000 também foram marcados pela maior visibilidade aos movimentos de luta pelos direitos civis, como os da população LGBTQIAPN+, resultando em maior representação na mídia e na política. O movimento negro também teve um papel crucial, lutando contra o racismo e promovendo a cultura afro-
brasileira. A internet foi decisiva nessa conjuntura, mudando a forma como as pessoas se comunicavam, consumiam informação e entretenimento e impulsionando a globalização. Politicamente, houve aumento na demanda por democracia e direitos humanos em várias partes do mundo, repercutindo no cenário interno do país.
A ascensão do Partido dos Trabalhadores à presidência do Brasil e o sucesso das políticas sociais implementadas, junto às dinâmicas de mudanças gerais no mundo, influenciaram as eleições dos governos estaduais no país. Na Bahia, Jaques Wagner, também do PT, baseou sua campanha na promessa de renovação e mudança. O candidato, que fez parte da liderança sindical e da criação do partido no estado, venceu as eleições em 2006, buscando investir no desenvolvimento econômico e social da Bahia. A aprovação das suas ações em diversas áreas, como a territorialização da cultura, garantiu a Jaques Wagner sua reeleição em 2010.
Apesar dos significativos avanços sociais e econômicos durante a primeira década dos anos 2000, incluindo a redução da pobreza e da desigualdade, ainda havia insatisfações com a qualidade dos serviços públicos no Brasil. Problemas crônicos, como a má qualidade do transporte, educação e saúde, geraram frustração entre a população que lutava por mais direitos. Além disso, a percepção generalizada de corrupção entre os políticos e a falta de transparência nas instituições públicas também contribuíram para um crescente descontentamento. Vários escândalos de corrupção durante os governos petistas minaram a confiança do público nessas lideranças políticas.
Esse emaranhado de complexas questões teve como consequência as Jornadas de Junho de 2013, durante o governo de Dilma Rousseff, sucessora de Lula. Inicialmente motivadas pelo aumento das tarifas de transporte público em São Paulo, as Jornadas rapidamente se expandiram para incluir uma ampla gama de insatisfações sociais, políticas e econômicas. Embora as demandas das primeiras mobilizações tenham sido atendidas, com a revogação do aumento das tarifas, os eventos de junho contribuíram para o desgaste da popularidade do governo de Dilma Rousseff, o que não a impediu de ser reeleita em 2014.
Todavia, os desgastes políticos, aliados a uma crise econômica, serviram de pretexto para o início do processo de impeachment
contra Dilma, ocorrido em 2016, e que frequentemente é referido como um golpe parlamentar. Fato é que, após as Jornadas de Junho e o início da Operação Lava Jato, uma investigação de grande escala sobre corrupção envolvendo a Petrobras, outras empresas e políticos, aumentou consideravelmente a pressão sobre o governo. Com o impeachment, liderado pelo deputado Eduardo Cunha (depois preso por conta de acusações como as das operações Lava Jato e Sepsis), e a chegada de Michel Temer à presidência, houve o aprofundamento da polarização política nos anos seguintes.
Também em consequência da Operação Lava Jato, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi preso em 2018, acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá, quando foi acusado de ter recebido um apartamento como propina da construtora OAS em troca de favorecimentos em contratos com a Petrobras. Ainda naquele ano, outro acontecimento impactante no campo político foi o brutal assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e do seu motorista, Anderson Gomes. A vereadora atuava na defesa dos direitos de minorias e na denúncia das ações milicianas no Rio de Janeiro.
Em 2018, havia no Brasil um ambiente de forte descontentamento com a classe política tradicional, com escândalos de corrupção nos anos anteriores e uma crise econômica prolongada. Com isso, Jair Bolsonaro, ex-capitão do Exército e deputado federal, colocou-se durante a campanha como um candidato anti-establishment, prometendo combater a corrupção, a criminalidade e promover valores conservadores. Diante da prisão de Lula, que o impediu de participar do pleito quando era favorito, abriu-se o caminho para que Jair Bolsonaro fosse eleito.
Desde o início de seu governo, Jair Bolsonaro adotou uma postura raivosa em relação às políticas ambientais, às organizações não governamentais que atuam na área e aos povos indígenas. A sua gestão enfraqueceu as agências de fiscalização, como o Ibama e o ICMBio, reduzindo seus orçamentos e interferindo em suas operações. As ações do governo Bolsonaro frequentemente favoreceram o agronegócio e a exploração de recursos naturais na Amazônia. Em 2019, o desmatamento foi o mais alto em uma década, tendência que continuou nos anos seguintes. Também no início de 2019 outra tragédia ambiental já tinha abalado o país, o rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, Minas Gerais, resultando em 270 mortes e em indescritível devastação ambiental, o que expôs falhas da fiscalização governamental e da atuação das mineradoras.
A redução na fiscalização e o incentivo a atividades econômicas na região amazônica e no Pantanal contribuíram para o aumento das queimadas e da destruição da floresta. Nesse contexto, um dos casos mais emblemáticos e simbólicos foi o assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, em 2022, durante a produção de um livro e documentário sobre atividades ilegais na região do Vale Javari, gerando comoção da comunidade internacional e escancarando a situação conflituosa que se desenhava na região amazônica.
No que se refere à política externa, houve o rompimento de parcerias estratégicas com diversas nações, ao tempo em que o governo buscou aproximar-se de outros países governados pela direita e extrema-direita, principalmente com os Estados Unidos, em uma perspectiva subserviente. Com isso, a credibilidade política e econômica do Brasil junto à comunidade internacional entrou em declínio, impactando nas possibilidades de colaboração com outros países em diversas áreas.
Na saúde pública, a pandemia de Covid-19 reforçou a perspectiva negacionista do governo Jair Bolsonaro, que negligenciou a necessidade de atuação intensa no combate à pandemia, atrasando a compra de vacinas, negando o uso de máscaras, além de agir para que a população usasse métodos ineficazes de cura, o que causou centenas de milhares de mortes. A gestão Bolsonaro, entre outras, também ampliou a crise econômica, aumentando a pobreza da população.
Nesse contexto, a insatisfação de parte do eleitorado com o governo Bolsonaro e a liberdade de Lula – ao ser constatado que o juiz Sérgio Moro, junto com procuradores da República, atuou de forma combinada e ilegal com o objetivo de condenar o ex-presidente – foram cruciais para a mudança no cenário político. Assim, a candidatura Lula, que prometeu reconstrução econômica, justiça social e uma gestão mais competente, tornouse vitoriosa nas eleições de 2022. Nessas eleições, o Brasil viu
o aumento significativo na representatividade LGBTQIAPN+ e indígena, com a eleição de vários deputados dessas comunidades, refletindo maior diversidade no Congresso. No entanto, a maioria dos assentos foi conquistada pela direita e pelo Centrão.
Importante mencionar que durante o período eleitoral, e nos últimos anos, em grande medida pela política do governo Bolsonaro, houve frequentes debates políticos sobre as mudanças climáticas e os impactos da flexibilização dos códigos ambientais. Esses debates ficaram ainda mais importantes, necessitando ações efetivas de redução dos impactos da ação humana, tendo como exemplo o grave desastre que o Rio Grande do Sul enfrentou em 2024. As enchentes no estado causaram mortes, destruição de propriedades e impactos econômicos e sociais profundos, reforçando a urgência de políticas ambientais mais eficazes no país.
Ricardo Sizilio
Historiador, mestre e doutorando em História (Ufba). Autor do livro Vai, Carlos, Ser Marighella na Vida e organizador do livro Bahia: Política e Sociedade (1930-1940).
FICHA TÉCNICA
Coleção CADERNOS DO VILA
Volume 5
Projeto Editorial: Edições do Vila
Coordenação Editorial: Marcio Meirelles e Edson Rodrigues
Projeto Gráfico, Design e Capa: Ramon Gonçalves
Marca da Coleção: Luciana Aquino
Revisão de Textos: Cristiane Sampaio e Edson Rodrigues
A coleção CADERNOS DO VILA
é uma realização do TEATRO VILA VELHA através do selo Edições do Vila.
SIZILIO, Ricardo. Vila Velha, por Exemplo: 60 Anos de um Teatro do Brasil - Contexto Histórico. Salvador, Edições do Vila, 2024. Coleção Cadernos do Vila, v. 5.
ISBN Nº 978-65-984609-6-9
1. História - Brasil. 2. Memória - Teatro Vila Velha. 3. ArteContexto. 4. Teatro – Bahia - Trajetória. 5. Teatro Vila Velha.
TEATRO VILA VELHA – Edições do Vila
Sociedade Teatro dos Novos
Avenida Sete de Setembro 1303 – Dois de Julho
CEP: 40.060-000
Salvador – Bahia 2024
01. HAYDIL LINHARES - 4 PEÇAS de Haydil Linhares (2002)
02. O TEATRO DO BANDO - NEGRO, BAIANO E POPULAR de Marcos Uzel (2003)
03. TEATRO DE CABO A RABO: DO VILA PRO INTERIOR E VICE-VERSA org. Marcio Meirelles (2004)
04. MAIS TEATRO DE CABO A RABO org. Marcio Meirelles (2006)
05. VILA VELHA, POR EXEMPLO - 60 ANOS DE UM TEATRO DO BRASIL CONTEXTO HISTÓRICO de Ricardo Sizilio (2024)