Cidadãos unidos contra epidemias • A lei e os negócios sociais
Iniciativas intersetoriais: começar pequeno, pensar grande


Cidadãos unidos contra epidemias • A lei e os negócios sociais
Iniciativas intersetoriais: começar pequeno, pensar grande


Samambaia.org é mantenedora da Stanford Social Innovation Review Brasil , que você folheia agora, porque ela sintetiza ideais que nos movem – o fortalecimento da democracia, a defesa da liberdade de expressão artística e acadêmica e os espaços voltados às múltiplas expressões culturais.
Como uma entidade que fomenta estudos para o crescimento econômico do Brasil, com foco na ampliação do mercado interno e na modernização tributária, temos parceria com o Observatório de Política Fiscal do Ibre/FGV. Na defesa da democracia, apoiamos instituições como o Mobile (Movimento Brasileiro Integrado pela Liberdade de Expressão Artística) e o LAUT (Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo). Somos também mantenedores da República.org , voltada para o reconhecimento dos servidores e do serviço público brasileiro.
Saiba mais sobre nós em https://samambaia.org/
Fale conosco samambaia@samambaia.org








 JUNHO 2024 / VOLUME 2, NÚMERO 8
JUNHO 2024 / VOLUME 2, NÚMERO 8
POR JOSH KARLINER
A Health Care Without Harm é um movimento global com o objetivo de fazer o setor de saúde zerar suas emissões, buscando, na prática, criar mudanças para reverter a crise do ambiente

34
O dilema entre confiança e escala nos negócios sociais
POR DANA BRAKMAN REISER
A regulamentação global do setor se divide a partir de visões sobre lucro; análise mostra como as normas sobre sua distribuição interferem na confiabilidade das empresas ou em seu crescimento
Empresas melhores para o mundo
POR MARCEL FUKAYAMA
46
Iniciativas intersetoriais devem começar pequenas
POR VANESSA LAIRD, KATHY QUICK E J. MYLES SHAVER
Projetos colaborativos volta e meia têm dificuldade para tirar do papel o desejo de fazer o bem. O processo do benefício mínimo viável ajuda grupos a definir sua pauta, entrar em ação e avançar na direção certa
54
Cidadãos contra epidemias ocultas
POR BERNADETTE CLAVIER
ILUSTRAÇÃO DA CAPA
Ao longo de décadas, a comunidade médico-científica se dividiu quanto ao tratamento da doença de Lyme. Negligenciados, os pacientes aprenderam a advogar por si mesmos. A causa levou à criação de uma estratégia nacional contra doenças transmitidas por vetores
Iniciativas públicas de amplo escopo exigem tirar o envolvimento com stakeholders diretos do nível transacional e levá-lo para o profundamente relacional.
4 CARTA AO LEITOR
De mãos dadas
5 SSIR ONLINE
A desigualdade pelo mundo / Agentes catalisadores / Democracia de informação / Teoria e prática / Investimento de impacto / Quando uma ONG falha / Aprendendo com o fracasso / Falhar melhor
7 O QUE HÁ DE NOVO



A guardiã virtual das florestas / Recuperando verde e confiança na Escócia / Criando um arquivo de rádios negras / Lares seguros para pessoas em situação vulnerável
HISTÓRIAS DO CAMPO
11 Parceria entre iguais
A ONG internacional Care mudou sua forma tradicional de prover ajuda humanitária, criando uma plataforma para melhorar as ações e os serviços prestados com entidades locais
POR JANE WEI-SKILLERN E ANNELIE STRATH
13 Restauração ecológica em Portugal
A ONG ATN preserva e recupera a biodiversidade no Norte de Portugal para combater os efeitos das mudanças climáticas
POR PRATHAP NAIR
16 ESTUDO DE CASO
O metrô chega a Hyderabad
Para oferecer transporte a sua população, a metrópole indiana lançou o maior projeto metroviário em parceria público-privada do mundo. Os numerosos obstáculos do processo foram superados usando uma lógica voltada para os stakeholders
POR RAM NIDUMOLU, VIJAYA SUNDER M E PAVITRA MADHIRA

PONTO DE VISTA
64 Encerrando em grande estilo
Fundações podem transformar a decisão de gastar recursos até o fim em um legado duradouro e impactante
POR ALICE HENGEVOSS E GEORG VON SCHNURBEIN
66 Equidade no emprego como medida antirracista
A partir de dados já existentes, o Protocolo ESG Racial ajuda empresas brasileiras a combater desigualdade dentro e fora de seus quadros profissionais
POR GUIBSON TRINDADE, DÉBORA MONTIBELER E PAULA JANCSO FABIANI
68 PESQUISA
O problema dos heróis / Relações sociais podem agravar uma crise
70 LIVROS
Luz e sombra na filantropia da elite brasileira
Jessica Sklair analisa o comportamento dos grandes doadores no país, trazendo à tona suas incoerências
DE JESSICA SKLAIR
72 ÚLTIMO OLHAR Filtrando a dor

" O s t r ê s g r a n d e s e i x o s d e a t u a ç ã o d o Instituto - promoção da saúde integral e bem-estar, fortalecimento de ecossistemas e organizações de impacto, e estímulo do e n g a j a m e n t o s o c i a l e fi l a n t r o p i ad e m o n s t r a m u m a a b o r d a g e m a m p l a e e s t r a t é g i c a p a r a e n f r e n t a r o s d e s a fi o s sociais. É especialmente notável a ênfase no desenvolvimento de organizações sociais e n e g ó c i o s d e i m p a c t o , m o s t r a n d o o comprometimento não apenas em atender às necessidades imediatas, mas também em construir sustentabilidade a longo prazo."
Dra. Janete Vaz e Dra. Sandra Costa
Embaixadoras do Instituto Sabin e Fundadoras do Grupo Sabin
Saiba mais:
SE, EM QUALQUER SETOR, circunstância ou contexto, “a união faz a força”, esse provérbio é ainda mais válido e necessário quando consideramos a atuação de quem busca a transformação social. Muitos dos artigos desta edição ilustram essa percepção com bastante clareza – e variedade.
A integração pode ser global, como a de diferentes atores da assistência à saúde para enfrentar a crise climática, diante da consciência de que esse setor é, ao mesmo tempo, um dos maiores emissores de gases de efeito estufa e um dos que mais diretamente sofrem o efeito do aquecimento global. A tarefa descomunal de enfrentar esse aparente paradoxo e buscar tornar o setor net zero congrega de médicos e hospitais a ministérios e fabricantes de insumos e é capitaneada pela organização Health Care Without Harm. O relato desses esforços é o tema de nosso artigo de capa, escrito por Josh Karliner.
A união se mostra, também, no caso dos negócios sociais, que tentam juntar o melhor de dois mundos – o lucro, objetivo do setor privado, e o benefício social, perseguido pelo terceiro setor. Para isso, dependem de legislações que favoreçam sua atuação e reconheçam suas peculiaridades. O marco jurídico é analisado em diferentes países por Dana Brakman Reiser, no artigo O dilema entre confiança e escala nos negócios sociais. O caso específico do Brasil não foi tema do estudo de Reiser e, por isso, convidamos Marcel Fukayama a trazer a questão para o nosso contexto, o que ele faz no texto Empresas melhores para o mundo
Outro exemplo é o dos coletivos que reúnem membros de diferentes meios e formações para buscar mudanças sistêmicas. Contudo, sem o devido preparo, o tamanho do desafio e a falta de alinhamento de expectativas podem ser paralisantes. Para que esses grupos não fiquem “presos no atoleiro” dos problemas que querem resolver, um trio de professores da Universidade de Minnesota propõe um processo sequencial, apresentado em Iniciativas intersetoriais devem começar pequenas
Aliás, um exemplo de empreitada de enormes proporções é o das pessoas comuns que combatem doenças crônicas associadas a infecções. No caso abordado em Cidadãos contra epidemias ocultas, Bernadette Clavier conta como os afetados pela doença de Lyme – entre os quais ela se inclui – fizeram sua voz ser ouvida pela comunidade médico-científica e pelo governo. Seus esforços resultaram na elaboração de políticas públicas e na destinação de recursos para estudar essa enfermidade que, por cinco décadas, cresceu sem a atenção devida nos Estados Unidos.
E, se você precisa de mais detalhes antes de adentrar os artigos mais extensos da revista, vai encontrar junto à abertura de cada um deles um pequeno box com a razão por que o publicamos. O recurso quer lembrar você, leitor, de que muitas vezes uma experiência que parece distante pode, sim, inspirar soluções para o contexto local.
Falando em contexto local, gostaria de concluir destacando outros dois artigos nacionais desta edição. Pela primeira vez, temos uma solução brasileira abordada na seção “O que há de novo”. É Cristiane Prizibiscski quem nos conta como funciona Taina, a guardiã virtual do conhecimento das florestas. E, em “Livros”, Leonardo Letelier resenha um título publicado no Reino Unido, mas que fala da nossa realidade – Brazilian Elites and Their Philanthropy, fruto de uma longa pesquisa da antropóloga britânica Jessica Sklair. Boa leitura, e que sigamos juntos – FRANCESCA ANGIOLILLO
ssir.com.br publicação trimestral volume 2 I número 8 I junho 2024
Diretora-geral Carolina Martinez carolina@ssir.com.br
Editora-chefe Francesca Angiolillo francesca@ssir.com.br
Editor-assistente Bruno Ascenso
Programador Web Daniel Miranda
Estagiária Bárbara Lopes da Silva
Mídias sociais Rafael Dias
Colaboraram nesta edição: Arte Estúdio Monearte
Tradução Ada Felix, Aracy Mendes da Costa, Gabriel Blum, Gabriela Fróes
Revisão Flávia Figueirêdo, Mariana Delfini e Mauro de Barros
Conselho Editorial
Daniela Pinheiro
Eliane Trindade
Gabriel Cardoso
Graciela Selaimen
Graziella Comini
Guilherme Coelho
Marcos Paulo Lucca Silveira
Richard Sippli
Mantenedores Institucionais
Fundação José Luiz Egydio Setúbal
Instituto Sabin Movimento Bem Maior
Samambaia Filantropias
CIVI-CO | Negócios de Impacto Social R. Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 445 Pinheiros, São Paulo – SP, 05415-030
Quer falar com a SSIR Brasil?
Redação: contato@ssir.com.br
Projetos especiais, publicidade, eventos: marketing@ssir.com.br
Stanford Social Innovation Review Brasil é uma publicação da RFM Editores sob licença da Stanford Social Innovation Review
Editor-chefe Nicholas Jackson
Editora acadêmica Johanna Mair
Editores Aaron Bady, Barbara Wheeler-Bride, Bryan Maygers, David V. Johnson, Marcie Bianco
Editora edições Jenifer Morgan globais
Conselho Consultivo Acadêmico
Paola Perez-Aleman, Universidade McGill
Josh Cohen, Universidade Stanford
Alnoor Ebrahim, Universidade Tufts
Marshall Ganz, Universidade Harvard
Chip Heath, Universidade Stanford
Andrew Hoffman, Universidade de Michigan
Dean Karlan, Universidade Yale
Anita McGahan, Universidade de Toronto
Lynn Meskell, Universidade Stanford
Len Ortolano, Universidade Stanford
Francie Ostrower, Universidade do Texas
Anne Claire Pache, Essec Business School
Woody Powell, Universidade Stanford
Rob Reich, Universidade Stanford
A Stanford Social Innovation Review (SSIR) é publicada pelo Stanford Center on Philanthropy and Civil Society da Universidade Stanford. Todos os direitos reservados.
CONTEÚDO EXCLUSIVO DO SITE SSIR.COM.BR facebook.com/ssirbrasil
linkedin.com/company/ssirbrasil
@stanford.ssir.br

SÉRIE GLOBAL | Equidade no emprego contra o racismo estrutural no Brasil
Neste trimestre, a SSIR publicou pela primeira vez uma série global de artigos online, com contribuições de todas as regiões em que a revista é publicada. A participação nacional foi o texto Equidade no emprego contra o racismo estrutural no Brasil, que pode ser lido também na página 66 deste número, em versão adaptada para a seção “Ponto de vista”. A imagem acima foi feita para o artigo por Raffi Marhaba/The Dream Creative, que também ilustrou o restante da série. Ao longo deste ano, haverá novas publicações. Acesse o QR Code nesta página e ative as notificações para não perder nenhuma.
AGENTES CATALISADORES
ARTIGO | Intermediários, tradutores da filantropia
No campo da filantropia, os intermediários têm de lidar com organizações sociais tradicionais de um lado; de outro, devem agir
para convencer os filantropos – no Brasil, principalmente a elite – a doar diretamente a essas organizações, que conhecem seus territórios melhor que ninguém. A partir de levantamento do Instituto Phi, Marcello Stella analisa a atuação cotidiana desses agentes do terceiro setor e traça um perfil dessas organizações no Brasil.
DEMOCRACIA DE INFORMAÇÃO
VÍDEO | Conversa com autores: A urgência de investir nos ecossistemas locais de informação Neste episódio, recebemos Izabella Moi e Nina Weingrill, autoras de A urgência de investir nos ecossistemas locais de informação, artigo de destaque de nosso número 4. Elas conversaram com a jornalista Daniela Pinheiro, membro do conselho editorial da SSIR Brasil, a respeito dos impactos desastrosos das fake news no país e sobre a importância de munir os cidadãos de informação para que eles possam participar da vida pública dignamente. Assista para ver as propostas das autoras para mitigar os efei
tos do fenômeno e resguardar a democracia dos riscos da desinformação.
EDIÇÃO ESPECIAL | Finanças inovadoras Nesta edição especial, oito artigos abordam, sob diferentes âmbitos, estratégias de investimento com lente de impacto que estão viabilizando a transformação socioambiental na América Latina. Com oferecimento da Fundação José Luiz Egydio Setúbal, Instituto da Cidadania Empresarial e Latimpacto, a revista trata de temas como a colaboração da filantropia para a conquista dos ODSs, equidade de gênero na distribuição de oportunidades e sociobioeconomia, entre outros. Acesse o conteúdo completo em nosso site.
SIGA A SÉRIE SOBRE EQUIDADE ssir.com.br/serieglobal

INVESTIMENTO DE IMPACTO
ARTIGO | Investimento sistêmico para a mudança social
Cada vez mais se fala em “sistemas” no mundo do investimento de impacto. Porém, em muitos casos, o que se vê são casos de “system washing”. Neles, não há indicação real de que as coisas estejam sendo feitas de forma diferente, argumentam Jess Daggers, Alex Hannant e Jason Jay. O que seria necessário para que investimentos adotassem verdadeiramente uma abordagem sistêmica? Segundo eles, “uma lógica de investimento totalmente nova, baseada numa tentativa genuína de reconhecer a complexidade e aproveitar os relacionamentos”.
QUANDO UMA ONG FALHA
ARTIGO | Aprendendo com o boom da justiça social
Diversas organizações sem fins lucrativos foram afetadas por conflitos internos nos últimos anos, muitas vezes ao longo de linhas geracionais. “Pensar e trabalhar juntos através de visões de mundo, intergeracionais ou não, requer trabalho árduo para acomodar o que cada um traz para a mesa”, escrevem Steve Kaagan e John Hagan. No texto, eles contam a experiência de ver seu próprio projeto consumido por um desacordo sobre justiça social e missão e compartilham aprendizados sobre o que poderia ter sido diferente.


APRENDENDO COM O FRACASSO
ARTIGO | É hora de compartilhar nossas falhas
Há diferentes motivos para hesitar sobre compartilhar fracassos – orgulho, culpa, medo de perder apoio ou incapacidade de reconhecer a derrota em si. No entanto, em domínios como a saúde global, em que os recursos são limitados e a replicação de erros pode ser extremamente dispendiosa, é crítico que os profissionais aprendam uns com os outros. Felizmente, projetos, organizações e o setor como um todo podem adotar medidas baseadas em evidências para reduzir barreiras e facilitar este tipo de compartilhamento.
FALHAR MELHORARTIGO | Como o fracasso mudou minha visão do terceiro setor
A partir de um relato pessoal, Atta Tarki, executivo do setor rentável com atuação no terceiro setor, mostra o que errar lhe ensinou sobre inovação em iniciativas sem fins lucrativos.
EM NÚMEROS
96%
é a porcentagem de respondentes que, em uma pesquisa global com profissionais de saúde, disseram achar importante compartilhar seus fracassos
72%
dessa amostra afirmou ter contado, nos últimos seis meses, alguma história desse tipo com colegas da mesma organização
41%
disseram ter relatado um fracasso a um colega em outra organização
23%
afirmaram ter falado de um insucesso com um doador
Novas abordagens para a mudança social

Chatbot Taina salvaguarda saberes, direitos e biodiversidade em comunidades indígenas da Amazônia
POR CRISTIANE PRIZIBISCZKI
Taina é bastante curiosa. Desde o início de 2024, ela tem ajudado diferentes populações tradicionais da Amazônia brasileira a registrar seus saberes, guardando consigo a riqueza cultural e natural da floresta. Assim, ela poderá contribuir para garantir a biodiversidade e, sobretudo, os direitos dos povos indígenas sobre seu rico conhecimento. De acordo com o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), hoje o Brasil tem 1,6 milhão de pessoas indígenas, sendo que 51,2% delas são habitantes da Amazônia Legal. Em todo o país, são cerca de 260 povos, falantes de mais de 160 línguas, distribuídos em 731 Terras Indígenas.
Diferenças à parte, todos esses grupos compartilham um fato: sua sabedoria ancestral é preservada majoritariamente na memória, uma vez que, na tradição indígena, os conhecimentos são transmitidos oralmente, sendo os mais velhos os principais guardiões dessas riquezas.
A crise trazida pelas mudanças climáticas e o crescente incentivo à bioeconomia ampliaram a preocupação acerca dos direitos sobre esses saberes, apropriados por não indígenas há cinco séculos.
Com o objetivo de usar as tecnologias emergentes para equalizar oportunidades e garantir direitos, uma organização brasileira, o Instituto Oyá, se uniu à suíça Gain Forest, dando origem à assistente virtual Taina – o nome se inspira na protagonista da série de filmes “Tainá”, uma menina guardiã da floresta. Ao contrário de outros chatbots, como o ChatGPT, Taina não dá respostas, mas faz perguntas. Ao ser “provocada”, inicia uma série de questionamentos, a fim de angariar, com o interlocutor, o máximo de informação possível. Por exemplo, se um indígena enviar, por celular, a imagem de uma planta para a Taina, ela o instigará a falar sobre a espécie: “Que planta bonita! Me conta mais sobre como vocês a utilizam?”.
Além de fotos, vídeos, sons, textos e áudios podem ser enviados à Taina. Não é preciso escrever, basta falar; a assistente reconhece o idioma e transcreve automaticamente em português e inglês. Taina também está sendo treinada, por meio de um processo de aprendizado de máquina, para reconhecer diferentes sotaques.
“O que construímos foi a partir das lições aprendidas no campo, nas aldeias, para basicamente imitar, de forma natural, o processo orgânico de transmissão de informações, através da contação de histórias”, explica David Dao, pesquisador sênior do Instituto Federal de Tecnologia de Zurique e fundador da Gain Forest.
Para treinar as comunidades no uso da tecnologia, o Instituto Oyá e a Gain Forest têm promovido workshops com lideranças. O primeiro deles, realizado em janeiro deste ano, teve lugar na Comunidade Indígena Parque das Tribos, que reúne mais de 5.000 indivíduos de 35 diferentes etnias, na periferia de Manaus.
Ainda no começo do ano, mais um grupo do Amazonas recebeu treinamento e, até o final de abril, outras três comunidades, entre indígenas e ribeirinhos, devem ser capacitadas.
Cada grupo capacitado no programa recebeu um drone e equipamentos para gravação de áudio. O projeto também prevê a disponibilização de antenas de internet e de placas solares para as comunidades que não possuem acesso à rede.
Todo o material enviado à Taina vai compor um banco de dados específico para cada comunidade, que decidirá internamente sobre seu uso. A escolha pode ser abrir o acervo, criar um sistema de acesso por assinatura ou mesmo vender o conteúdo.
“A ferramenta é importante porque os conhecimentos indígenas ainda estão dentro da questão da oralidade. Essa inteligência artificial pode ser utilizada para resguardar esse conhecimento”, diz Vanda Witoto, líder índigena do povo witoto, do Alto Solimões.
Todas as informações guardadas por Taina podem, se as comunidades quiserem, ser associadas a bancos de dados de imagens de satélite e de sequenciamento genético de espécies amazônicas produzidos em outros projetos da Gain Forest.
A ideia é fortalecer o registro de potenciais direitos autorais sobre esses saberes. Mas, de acordo com Kamila Camilo, diretora-executiva do Instituto Oyá, além disso, as comunidades usuárias da tecnologia são remuneradas por cada inserção feita na assistente virtual.
Informações em texto e foto valem US$1; em vídeo, US$ 0,50 por megabyte, e as de áudio, US$ 0,01 por minuto. Os valores foram acordados com os diferentes povos participantes dos workshops.
“Cada equipamento de áudio grava até 12 mil minutos. Se estamos pagando US$ 0,01 por minuto, podemos pagar até US$120 para uma pessoa por pouco mais de uma semana de gravação. É mais do que o salário que essa pessoa receberia para cortar madeira, por exemplo”, diz Camilo.
A Taina, em associação com outros projetos de monitoramento das florestas tropicais desenvolvidos pelo Instituto de Tecnologia de Zurique, é finalista no XPRIZE Rainforest, uma competição global que se desenrola ao longo de cinco anos e que premia o vencedor com US$10 milhões. O objetivo é acelerar a inovação de tecnologias autônomas necessárias para a avaliação da biodiversidade e para melhorar nossa compreensão sobre as florestas tropicais. O resultado da disputa será divulgado em meados de 2024 O
CRISTIANE PRIZIBISCZKI é jornalista especializada em comunicação socioambiental. Escreve para ((o))eco.
MEIO AMBIENTEUma iniciativa ambiental adotou a tática incomum de estabelecer uma parceria com habitantes para proteger não só paisagem, mas também o custo da habitação e os empregos
POR EMMA WOOLLACOTT
Tayvallich, uma península remota na costa oeste da Escócia, já foi um vasto mostruário ambiental, que incluía uma hoje rara floresta pluvial temperada rica em líquens, musgos, hepáticas, samambaias e diversas espécies de árvores, como a bétula, a aveleira, o carvalho e o junípero.
Mas décadas de desmatamento e pastagem excessiva dizimaram a paisagem, hoje restando apenas uma pequena porção de seus habitats pantanosos de água doce e salgada e das pradarias repletas de diferentes espécies.
Diante da intenção da Aliança Escocesa pela Restauração do Ecossistema de recuperar 30% das terras e mares do país até 2030, os apelos se uniram em torno do ecossistema de Tayvallich.
Projetos assim nem sempre são bem-vistos. Os donos dos “latifúndios verdes” que os realizam já foram acusados de ignorar as necessidades dos moradores em seus esforços de recuperação. Em Tayvallich, a tentativa é de fazer algo diferente: restaurar a paisagem e, ao mesmo tempo, criar novas oportunidades para a comunidade local.
A propriedade de 1.420 hectares onde se localiza a península foi vendida para a Highlands Rewilding, empresa cuja missão é restaurar paisagens e gerar renda por meio da diversidade e de projetos de compensação de carbono.
Seu fundador, o empreendedor social Jeremy Leggett, foi diretor científico da campanha pelo clima do Greenpeace e fundador da empresa de painéis solares Solarcentury. A ecologia variada e a floresta pluvial temperada chamaram sua atenção para Tayvallich.

Na península de Tayvallich, moradores e a Highlands Rewilding trabalham juntos para recuperar o ambiente
Ao saberem que os proprietários venderiam as terras, que pertenciam à mesma família havia três gerações, os moradores buscaram proteger seus interesses fundando, em setembro de 2022, a Iniciativa Tayvallich. Um mês depois, ela se converteu em uma companhia limitada de caráter beneficente.
A Highlands Rewilding se comprometeu a trabalhar com essa nova empresa para garantir e melhorar o modo de vida local. Em parceria com a Iniciativa Tayvallich, a organização formalizou um memorando de entendimento (MOU) que delineia 24 objetivos em prol de benefícios mútuos de prosperidade comunitária e rentabilidade ética.
“O MOU é bastante inovador”, afirma o presidente da Iniciativa Tayvallich, Martin Mellor. “É uma estrutura embrionária que estabelece um bom ponto de partida e que será desenvolvida nos próximos meses e anos.”
O acordo prevê que a Highlands Rewilding venderá partes da propriedade à comunidade e inclui cláusulas que determinam a construção de imóveis para aluguel a preços baixos, sem possibilidade de despejo e que garantem a manutenção de todos os empregos na propriedade. O memorando se ampara na política escocesa de Restrição à Venda de Habitação Rural. Essa legislação determina que qualquer terreno ou propriedade comercializada deva servir de residência primária ao proprietário, evitando seu uso para locação de veraneio, o que torna as terras financeiramente inviáveis para os habitantes locais.
“Muita gente sai daqui para trabalhar, passar por treinamentos ou frequentar a universidade e depois tem dificuldade em voltar”, diz Mellor. “Por isso, é animador pensar que, nos próximos anos, faremos a diferença, disponibilizando mais propriedades onde as pessoas poderão morar.”
Mellor e Leggett também esperam que os habitantes possam abrir pequenos negócios para tirar proveito do ambiente restaurado, oferecendo, por exemplo, excursões na natureza e passeios de caiaque.
O trabalho da iniciativa será financiado por diversas entidades, entre elas o governo escocês, que forneceu uma bolsa para o desenvolvimento de empreendimentos ecológicos, e o Fundo Imobiliário Escocês, com recursos para que a iniciativa possa adquirir terras e imóveis para habitações populares. Segundo Leggett, os fundos também vieram de “indivíduos com elevado patrimônio líquido e de uma campanha de arrecadação que obteve mais de 1 milhão de libras [US$ 1,23 milhão].”
Neste ano, a Highlands Rewilding pretende avaliar a ecologia local para monitorar o progresso dos esforços de restauração, ao passo que a Iniciativa Tayvallich desenvolverá projetos de empresas ecológicas. Caso seja bem-sucedida, a parceria poderá servir de modelo para projetos de restauração de ecossistemas no futuro. O
EMMA
ARTE & CULTURASociedade voltada para mulheres negras no rádio e força-tarefa da Biblioteca do Congresso estão desenvolvendo uma coleção para homenagear a cultura radiofônica afro-americana
POR MARIANNE DHENIN
Em sua infância na Carolina do Norte da década de 1970, Helen Little adorava ouvir rádio, mas nunca imaginou que um dia estaria nesse meio dominado por homens brancos. “Quando você não se vê em uma coisa, é difícil se imaginar ali”, diz ela.
Na profissão há mais de 30 anos, ela hoje apresenta um dos programas solo de maior audiência no país, na 106.7 Lite FM de Nova York.
No ano passado, Little começou a trabalhar como voluntária na Sociedade Histórica das Mulheres Negras no Rádio, organização sem fins lucrativos criada em 2023 com base na estrutura empresarial da Black Women in Radio & Digital Media (BWIR), fundada pela ex-radialista Felèsha Love para dar reconhecimento à contribuição das mulheres negras ao radialismo.
O primeiro projeto de preservação da BWIR foi uma coleção de relatos orais, que teve Little entre as primeiras entrevistadas. A experiência inspirou seu voluntariado. Agora ela está no novo projeto da organização, a Coleção Legends, um arquivo de mídia e de objetos efêmeros, como fotografias antigas e anúncios impressos, que representam a riqueza da cultura radiofônica negra.
“Um aspecto muito importante de criar e preservar esta coleção é que se trata de um lugar onde as jovens que se parecem comigo podem se enxergar e perceber que é possível participar dos meios de comunicação de massa e compartilhar nossas histórias, nossa música e nossa cultura”, diz Little.
Inaugurada em 2023, a Coleção Legends é viabilizada por meio de uma parceria com a Força-Tarefa pela Preservação do Rádio (RPTF, na sigla em inglês), consórcio de instituições, estudiosos, bibliotecários e colecionadores sob a alçada do Conselho Nacional de Preservação de Gravações da Biblioteca do Congresso. Felèsha Love é a responsável pela curadoria, com a ajuda de personalidades famosas do rádio, como Little e Skip Dillard, que é gerente de operações da 94.7 The Block, uma tradicional rádio de hip-hop de Nova York. A coleção ficará abrigada na Biblioteca do Congresso, onde ganhará uma exposição, ainda sem data definida.

Radialistas Helen Little, Dyana Williams, Ken Johnson, Carole Carper e Sam Weaver (da esq. para a dir.) no evento de lançamento da coleção Legends, em abril de 2023
O conselho criou a RPTF em 2014, como uma ação no âmbito de sua missão de preservar a
história nacional em áudio. “Naquele primeiro ano, descobrimos que quase toda a história radiofônica do país já havia sido jogada fora ou estava malcuidada e se deteriorando”, afirma o diretor RPTF, Josh Shepperd.
Muitas gravações mais antigas estão em formatos obsoletos, como o 78 rpm, feito de goma-laca. Algumas requerem equipamentos especiais para serem digitalizadas ou reproduzidas. Muitas foram descartadas quando as estações de rádio encolhiam ou mudavam de dono, ou pela chegada de novas tecnologias. Além disso, diz Shepperd, vieses raciais fazem com que arquivistas e colecionadores tendam a não priorizar a preservação das mídias negras.
Para Love, o trabalho da BWIR é também uma resposta ao clima político atual, que gerou represálias contra a forma como a história negra é ensinada – quando se ensina – nas escolas. “Isso torna nossa coleção ainda mais importante”, afirma Love. “Se não contarmos nossas histórias, quem vai contá-las?”
Embora seja voltada à história da cultura radiofônica negra, a Coleção Legends também permitirá que os historiadores componham narrativas mais ricas e inclusivas. Gravações radiofônicas antigas contêm informações vitais, capturando ações políticas cotidianas por trás de episódios como o Movimento pelos Direitos Civis. Com isso, será possível colocar em contexto décadas de momentos culturais e tendências que nasceram nas rádios negras, das danças da moda na década de 1960 até o hip-hop.
A coleção terá também mídias impressas, como cadernos com listas de execução e fotografias clássicas. Encontrar itens do tipo é um dos desafios da curadoria, pois eles podem estar em coleções particulares ou acumulando poeira em algum sótão.
“Lamento não termos conseguido salvar mais itens como esses”, afirma Dillard, que, durante suas três décadas de carreira, viu estações jogarem fora materiais antigos. “Agora, quero ajudar a encontrar tudo o que puder.” O
MARIANNE DHENIN é jornalista e historiadora premiada.
CIDADES
Lares seguros para pessoas
Uma instituição filantrópica e um banco estão unindo forças para facilitar o processo de locação para pessoas de baixa renda e população sem-teto no Reino Unido
POR EMMA WOOLLACOTT
Ainflação desenfreada e a alta nas taxas de juros no Reino Unido levaram os proprietários de imóveis a aumentarem o preço dos aluguéis, chegando aos valores mais altos dos últimos 16 anos. Esse obstáculo financeiro à habitação popular agravou-se ainda mais quando o governo do país congelou o auxílio financeiro para pessoas de baixa renda, nos últimos três anos. De acordo com uma pesquisa
realizada em 2023 pela instituição filantrópica Crisis, especializada em pessoas em situação de rua, e pela consultoria em serviços financeiros Lloyds Banking Group, apenas 4% dos imóveis no mercado são viáveis para pessoas que recebem benefício habitacional. Além disso, 1,8 milhão de inquilinos de baixa renda vivem em condições de insegurança.
Motivados pelas conclusões, Crisis e Lloyds desenharam uma iniciativa para tornar o processo de locação mais fácil, seguro e barato. Em parceria com a Homes for Good, pioneira na locação social na Escócia, criaram uma agência para combater a falta de moradia aumentando a oferta de habitação popular de qualidade. A agência não pedirá aos inquilinos em potencial que cumpram as rigorosas exigências habituais – como pagamento adiantado de vários meses de aluguel, referências ou fiadores. Além disso, promete não despejar os inquilinos caso não consigam pagar o aluguel.
“Nossa nova imobiliária nos permitirá colocar pessoas em situação de rua diretamente em lares seguros e estáveis, base essencial para reconstruir suas vidas”, diz Matt Downie, executivo-chefe da Crisis.
A agência foi criada como uma empresa de interesse comunitário (CIC, na sigla em inglês), o que significa que ela atuará como uma companhia rentável, porém todo o lucro dos aluguéis será reinvestido numa entidade com ativos bloqueados que apoia uma comunidade específica — neste caso, pessoas que estão ou que corram risco de ficar em situação de rua.
Começando por Londres, a nova agência, ainda sem nome, expandirá suas atividades a outras cidades do Reino Unido. O Lloyds pretende angariar mais de 2 milhões de libras (US$ 2,48 milhões) para o lançamento da empresa. O grupo também custeará uma bolsa da Crisis que concede subsídio para que pessoas em situação de rua estudem ou abram pequenos negócios.
“Na condição de líderes financeiros do mercado de habitação popular, é nossa responsabilidade usar nossas capacidades, escala e relacionamento para ajudar a realizar mudanças positivas”, afirma o executivo-chefe do Lloyds Banking Group, Charlie Nunn.
O plano das parceiras é comprar e alugar imóveis com base no modelo de negócios da Homes for Good e, assim, manter uma oferta constante de habitação popular. A entidade aluga quase 60% de seus imóveis a preços populares, e os 40% restantes são alugados a preços de mercado.
A parceria é positiva para a Homes for Good, que ainda não tem capacidade suficiente para atender ao público. “É muito difícil administrar a demanda e as expectativas dos inquilinos”, explica sua fundadora e diretora-executiva, Susan Aktemel. “Recebemos até 300 consultas por imóvel disponível nos últimos 12 meses, portanto temos um grande volume de pessoas frustradas que estamos tentando ajudar.”
O mercado habitacional londrino, altamente competitivo, será “o maior desafio da agência”, afirma a diretora de estratégia de oferta habitacional da Crisis, Kate Farrell. Diante da disponibilidade limitada do mercado, Nunn ecoa suas palavras. Mas, diz ele, “a solução pode estar na inovação financeira, nas parcerias e no pensamento inovador”. O
EMMA WOOLLACOTT é jornalista no Reino Unido e escreve para a BBC, a Forbes e diversos veículos especializados em tecnologia.
A ONG internacional Care mudou sua forma tradicional de prover ajuda humanitária, criando uma plataforma para melhorar as ações e os serviços prestados com entidades locais
POR JANE WEI-SKILLERN E ANNELIE STRATHEm 1945, os ativistas cívicos Arthur Ringland e Lincoln Clark enviaram petições a 22 instituições de caridade americanas para criar uma organização sem fins lucrativos que enviasse kits de auxílio à Europa, destruída pela Segunda Guerra Mundial. De lá para cá, a Care passou a operar em 109 países, com a missão de erradicar a pobreza por meio de programas de resposta a crises, de alimentação e nutrição, de saúde e de desenvolvimento econômico
Em novembro de 2013, a Care se viu diante de uma das mais fortes tempestades do planeta, o tufão Hayan. Ele atingiu as Filipinas, onde a organização atuava desde 1949, matando mais de 7.000 pessoas e destruindo mais de 1 milhão de lares.
Com suas parceiras locais – empresas terceirizadas que administravam os programas –, a organização forneceu abrigo, alimentos e auxílio financeiro a 318 mil filipinos. A iniciativa, no entanto, foi prejudicada pela necessidade de trazer colaboradores do exterior quando a escala da crise superou a capacidade local. Em 2017, uma análise interna mostrou que não foram cumpridas as metas de resposta ao tufão – como a distribuição de alimentos, que devia ocorrer em 72 horas, mas em alguns casos demorou até seis dias, pois não havia organizações parceiras nas regiões mais remotas e afetadas.

A Care concluiu que dependia demais de sua própria equipe e não havia sido capaz de aproveitar os recursos, o conhecimento e a capacidade das organizações locais. A Care notou a necessidade de estabelecer relacionamentos mais robustos com os parceiros. Para que tivesse um impacto duradouro e efetivo nas Filipinas e em outros países, teria de trabalhar com suas parceiras de igual para igual, e não tratando-as como terceirizadas.
Em 2016, essa mudança de estratégia levou à criação da Plataforma de Parceria Humanitária das Filipinas (HPP), uma aliança informal entre a Care e quatro ONGs locais que gerenciam todas as suas iniciativas de resposta a emergências no país. Hoje, a plataforma já conta com 30 organizações parceiras, que atuam nas mais de 7.000 ilhas do arquipélago filipino
A HPP não é uma organização autônoma, mas um coletivo de organizações independentes que se uniram para desenvolver o conhecimento e a liderança locais e, assim, realizar programas eficazes. A HPP enfatiza a humildade e a parceria entre iguais.
Lideranças femininas de organizações da HPP debatem ideias durante a assembleia geral da aliança em abril de 2023
A Care e as outras ONGs compartilham informações e coordenam suas atividades para obter o maior impacto possível, evitando duplicar trabalho e promovendo esforços humanitários complementares.
“Com a HPP, as parceiras não estão apenas recebendo ordens da ONG maior”, afirma Jennifer Furigay, coordenadora da organização sem fins lucrativos Assistência e Cooperação para a Resiliência e o Desenvolvimento Comunitários (Accord), que já era parceira da Care antes da criação da HPP. Nenhuma entidade domina ou exerce influência desproporcional sobre a estratégia geral da aliança. A liderança sênior da Care insistiu nessa estrutura para criar relacionamentos melhores não só lá, mas no mundo todo.
“Nossa liderança se interessou de imediato na força que uma estratégia de rede tem”, diz a presidente e CEO da Care, Michelle Nunn. “Tanto o conselho quanto os executivos perceberam que trabalhar assim não só seria mais sustentável e econômico, mas também teria maior impacto. Como disse um dos membros de nossa equipe: ‘Essa não é só a nossa forma de trabalhar, é o que nós somos’.”
A HPP possui comitês de finanças, compras e comunicações. Seus membros também colaboram na realização de treinamentos técnicos, como simulações de preparo para resposta a desastres. A organização promove planejamento conjunto, simulações e criação e implementação de projetos junto a entidades locais. Entre suas parceiras do setor privado, há provedoras de serviços financeiros das Filipinas, como a Palawan Express e a Cebuana Lhuillier, que auxiliam com cadeias de fornecimento e transferências monetárias.
As instituições da HPP a veem como uma multiplicadora de forças humanitárias que
Com os membros da HPP contribuindo com seus contatos locais, conhecimento e capacidade, a Care pode se concentrar nas tarefas que só ela tem capacidade de fazer, como captar recursos, organizar conferências e custear o desenvolvimento profissional de membros da HPP. A Care também utiliza sua reputação global para atrair recursos para as parceiras da HPP, proporcionando confiança e capacidade de responsabilização a doadores não familiarizados com organizações locais de menor porte e que queiram trabalhar com uma rede mais ampla.
A HPP fortaleceu as propostas de custeio de iniciativas da Care nas Filipinas. “As
Em vez de vir da Care, as propostas partem das próprias comunidades nas quais o trabalho acontecerá
lhes permite planejar e responder a emergências com eficácia muito superior à que teriam atuando sozinhas. A HPP mantém um fundo de resposta a emergências com o apoio da Care Filipinas e com um protocolo predefinido para fornecer pronto financiamento e suporte a membros da aliança em caso de necessidade. As parceiras têm autorização para conduzir avaliações e distribuir fundos próprios, e a Care reembolsa despesas de até US$ 2.000 por organização.
Embora proveja boa parte dos recursos da HPP, a Care não toma as decisões sobre sua alocação. Em vez disso, a entidade colabora com suas parceiras na concepção e aplicação dos programas e serviços. A matriz nos EUA cobre todos os custos operacionais e de manutenção da HPP, porém, mais recentemente, tem atraído financiadores externos, como a Fundação Tijori, em virtude do histórico da HPP.
“Antes da HPP, [atuávamos] sozinhos”, afirma Jimmy Khayog, membro da HPP e diretor-executivo da ONG Cordillera Serviços de Resposta a Desastres e Desenvolvimento. “Hoje temos recursos para fornecer auxílio imediato antes mesmo de concluída a avaliação de danos.” A capacidade de resposta em campo nas primeiras 24 horas após um desastre não só já salvou vidas, mas também fez aumentar a captação de recursos dessas organizações locais.
propostas partem das próprias comunidades nas quais o trabalho acontecerá, das organizações e dos moradores locais”, afirma Lance Gutierrez, gerente de desenvolvimento de negócios da Care Filipinas. “Elas são mais precisas, porque representam as necessidades, perspectivas e conhecimento dessas comunidades.” Os programas e serviços também se mostram mais eficientes, pois a participação local gera projetos melhores, evitando desperdício de recursos, e mais sustentáveis, porque os membros da HPP ajudam a aumentar a capacidade local.
“A única forma de atingirmos as metas da Care nas Filipinas é trabalhar com nossas parceiras da HPP”, diz Leigh Fuentes, coordenadora de parcerias da entidade no país. “A reputação dessas parceiras, suas raízes e relações nas comunidades são o que nos permite alcançá-las.”
Por maior que seja a importância da HPP para a Care e suas parceiras, ela representa uma conquista ainda maior para as comunidades filipinas cujas vidas dependem dos serviços prestados pelas ONGs.
Desde 2016, a HPP respondeu, em média, a seis desastres por ano. Após o tufão Rai atingir o país em 2021, o governo filipino reconheceu a Care como a organização in-
ternacional responsável pela maior resposta humanitária, depois da Cruz Vermelha –cuja equipe é quase dez vezes maior que o time local da Care. A entidade só conseguiu prover auxílio em tal escala devido à HPP, cujas entidades têm capacidade de resposta eficaz nas 17 regiões do país.
“Temos uma rede de 30 parceiras comunitárias e capacidade de mobilizar quase 3.500 colaboradores – número quase 70 vezes superior ao da equipe da Care – poucas horas após um desastre”, diz David Gazashvili, ex-diretor da Care Filipinas. “Nossos parceiros trabalham onde vivem. Por isso, conhecem melhor as necessidades locais, falam a língua local e entendem a cultural local.”
Recentemente, a HPP expandiu seu trabalho para além da ação humanitária, passando a atuar em desenvolvimento econômico e preparo para resposta a desastres. Os membros da HPP colaboram com governos locais para incluir a gestão de riscos em planos de desenvolvimento.
Por exemplo, as entidades associadas oferecem kits “build back better” para reparo de abrigos ou seja, voltados para melhorar as condições anteriores à emergência, com ferramentas, materiais de construção como chapas corrugadas, pregos especiais, martelos e telas de alumínio, e orientações técnicas para ajudar as comunidades na reconstrução pós-crise. Essa estratégia possibilita a recuperação autônoma das comunidades, oferecendo às famílias recursos e conhecimento, em vez de terem de esperar e pagar caro pelos serviços de terceiros.
Após o sucesso nas Filipinas, a Care já está desenvolvendo plataformas de parceria similares no Nepal, no Maláui, no Sudão do Sul e no Níger, e há planos de incluir mais países. Não se trata simplesmente de duplicar os recursos ou a estrutura da HPP, e sim de empregar os princípios centrais que levaram a aliança ao sucesso: confiança, humildade e colaboração mútua. A HPP é prova de que redes sustentadas por esses valores obtêm resultados melhores e mais sustentáveis às comunidades. O
JANE WEI-SKILLERN é professora sênior do Centro de Liderança no Setor Social da Escola de Administração Haas, na Universidade da Califórnia em Berkeley.
ANNELIE STRATH é especialista independente em avaliação e reforma de políticas educacionais e já prestou serviços à Unesco, ao Unicef e ao Banco Mundial.
A ONG ATN preserva e recupera a biodiversidade no Norte de Portugal para combater os efeitos das mudanças climáticas
POR PRATHAP NAIRNa década de 1990, o interior quase intocado da Península Ibérica, na fronteira de Espanha e Portugal, sofreu uma série de intervenções ambientais humanas: uma tentativa fracassada do governo português de construir uma represa no rio Côa, o rápido desmatamento ocasionado pela derrubada de árvores e a proliferação de pedreiras ilegais destruíram a biodiversidade da região. Além disso, o manejo tradicional do solo – a prática de fazendeiros e criadores de utilizar a pastagem do gado para evitar o crescimento excessivo da vegetação – diminuiu devido ao declínio populacional com a migração de jovens para as cidades. Isso aumentou a exposição a desastres naturais.
A paisagem rural portuguesa já foi um mosaico de pastos e arbustos entremeados por árvores como a azinheira, o sobreiro e o pinheiro-bravo. A introdução de práticas agrícolas modernas ocasionou a derrubada de árvores, e arbustos invasivos contribuí-
ram para a destruição. A falta de poda e o ressecamento da vegetação pelo calor levaram a incêndios que devastaram a região em 2003.
De acordo com um relatório publicado em 2006 pela International Forest Fire News, 21 pessoas morreram, 500 mil hectares de terra foram perdidos, e cerca de 60 mil hectares de plantações, queimados. Os incêndios impressionaram a bióloga portuguesa Ana Berliner, que, no ano 2000, havia fundado a ONG ambiental Associação Transumância e Natureza (ATN) para preservar a natureza do Noroeste de Portugal por meio da participação comunitária.
Berliner visitara o Vale do Côa pela primeira vez em 1996 para pesquisar pássaros que se reproduzem em penhascos, como o abutre-preto, original da Eurásia. Ficou encantada com o que viu: além das escarpas íngremes, o vale também abrigava uma biodiversidade vibrante, um habitat rico, porém extremamente vulnerável, para diversas espécies raras.
Com seu marido, o também biólogo António Monteiro, e alguns outros ambientalistas, Berliner fundou a ATN, organização guarda-chuva que supervisiona a gestão e a proteção do ambiente do vale. Com recursos próprios e uma pequena bolsa concedida pela hoje extinta ONG suíça Mava, Berliner comprou de fazendeiros 30 hectares de terra às margens do Côa e fundou o projeto de reserva ecológica particular Faia Brava. Ela vê a ATN como um complemento essencial às limitadas estratégias de preser-
vação da natureza do governo português, que incluem a regulamentação do uso das terras da floresta por criadores de gado, a preservação de espécies e o pagamento de compensações a fazendeiros para que não matem os lobos que atacam seu gado.
A Faia Brava é a base dos diferentes esforços de preservação da ATN, que incluem a restauração florestal, a preservação da biodiversidade, a educação climática e a prevenção de incêndios. Esta, em particular, é de suma importância, pois a ameaça de desertificação, acelerada pelas mudanças climáticas, ainda paira sobre essa região árida.
Atualmente, a Faia Brava ocupa um lugar central na porção ibérica da Natura 2000, rede considerada pela Comissão Europeia como o maior esforço coordenado de proteção ambiental do mundo.
PRIVATIZANDO A PRESERVAÇÃO
Como a preservação da natureza é um processo lento e trabalhoso, a ATN opta por se concentrar em esforços pequenos e viáveis de restauração do ecossistema do Vale do Côa.
Além disso, a terra que Berliner adquiriu não contava com a diversidade de espécies necessária à manutenção de um ecossistema sustentável, o que dificultou o projeto. Berliner e a equipe também perceberam que teriam de ajudar a promover uma recuperação rápida depois dos incêndios para que o local pudesse resistir melhor a eventuais novos episódios.
em
A Associação Transumância e Natureza promove laboratórios para educar jovens sobre a biodiversidade da região


Hoje, a ATN é administrada por um conselho de sete membros que se reúnem mensalmente para debater iniciativas estratégicas, como a aquisição de terras. A ONG tem oito funcionários fixos, que, com diversos voluntários, implementam novos projetos.
Berliner e Monteiro já trabalhavam pela preservação de espécies – entre as quais se contam aves que se reproduzem nos penhascos e estão ameaçadas de extinção, como a águia-real, a águia-de-bonelli e o petrel. A equipe começou a plantar árvores em 2008. A monitoração constante resultou em 15 anos de crescimento ininterrupto, e o verde voltou.
“Florestas antigas armazenam muito mais carbono do que árvores jovens.
para um projeto que estuda o impacto de herbívoros de grande porte na paisagem mediterrânea. “Desde o solo até a vegetação e os animais – mamíferos, répteis e carnívoros –, uma maior densidade pode ter um efeito retroalimentativo nos ecossistemas”, explica Carvalho. “Estamos tentando desvendar todas essas relações, e a Faia Brava é um local incrível para testá-las.”
A preservação dos pássaros continua sendo uma prioridade para a ATN. Eduardo Alves, responsável por manter a estação de alimentação de abutres-do-egito e abutres-pretos, afirma que o trabalho “envolve a restauração do habitat, a alimentação, a reabilitação e o monitoramento dos habitats dos abutres, a busca por novas colônias e no-
O ecologista Henk Smit frisa que a sociedade civil tem de agir imediatamente contra a perda de biodiversidade
Logo, nosso foco principal é proteger esses exemplares em Faia Brava”, explica Frederico Leite, ecologista e membro da equipe que monitora a saúde do solo e o plantio de árvores. “Não só elas, mas também os animais; quando eles fertilizam a área, ajudam a reter carbono.”
Berliner e Monteiro, que já criavam asnos quando compraram a terra, introduziram cavalos da raça local garrana em 2014 e gado das raças sayaguesa e maronesa em 2018. A biodiversidade total da reserva aumentou, porque esses animais se alimentavam da grama e dos arbustos, prevenindo o crescimento excessivo da vegetação e reduzindo o risco de incêndio. De fato, não houve mais fogos graves na região desde 2003. Essas medidas transformaram a Faia Brava num laboratório ao ar livre que permite realização de estudos de campo e experimentos ecológicos, segundo João Carvalho, ecologista do Centro de Estudos do Ambiente (Cesam) da Universidade de Aveiro, que pesquisa as dinâmicas dos ecossistemas mediterrâneos. Carvalho diz ainda que o centro conduz diversos projetos de pesquisa com base na rica biodiversidade da reserva.
No final de abril, o Cesam recebeu estudantes universitários de toda a Europa
vos ninhos de aves de rapina e o anilhamento de pássaros jovens com GPS”. A responsabilidade da Faia Brava também se estende às 120 espécies de pássaros que habitam a área especial protegida do Vale do Côa.
COMBATENDO A DESERTIFICAÇÃO
Não é tarefa fácil restaurar o ecossistema numa região em que a mudança climática se faz presente por meio de eventos cada vez mais extremos e imprevisíveis. Nos últimos anos, as secas se intensificaram, acelerando a desertificação. Devido ao recrudescimento desses efeitos, o holandês Henk Smit, ecologista e membro do conselho da ATN, frisa que a sociedade civil deve agir imediatamente para evitar uma perda de biodiversidade ainda maior. “Estamos melhorando a cobertura arbórea e tentando enriquecer o solo com materiais orgânicos e nutrientes”, afirma ele.
A preservação da natureza é uma tarefa contínua e dispendiosa. Berliner e seu marido investiram seus próprios recursos para criar a ATN, mas recorreram aos frutos da terra para custear o crescimento da ONG. No início dos anos 2000, começaram a vender azeite de oliva feito com a colheita da própria reserva, e produtos como manteiga
de amêndoas e loções corporais produzidos por pequenos empresários na propriedade de Berliner, na vila de Castelo Rodrigo. Foi também uma forma de divulgar o trabalho da ATN, afirma Berliner. Ao lucro gerado pela venda dos produtos, somam-se recursos fornecidos por agências europeias e por doadores particulares para manter a receita da organização.
Bolsas específicas contemplam as necessidades de financiamento de cada projeto. Por exemplo, o programa de preservação dos abutres é mantido pela Cinea (acrônimo em inglês para Agência de Execução Europeia do Clima, das Infraestruturas e do Ambiente). A Fundação Belmiro de Azevedo, de Portugal, já forneceu mais de € 96 mil ao Laboratório de Pesquisa e Educação da Faia Brava, que administra, na reserva, programas de treinamento ambiental para estudantes e professores do ensino fundamental ao médio. E o projeto de restauração florestal da ATN – que visa recuperar a paisagem do Montado com 80 árvores maduras por hectare e, assim, acelerar a regeneração da floresta mediterrânea da Faia Brava – já recebeu um total de € 1 milhão em recursos do governo português.
Hoje, a Faia Brava já ocupa cerca de 1.600 hectares de terra. “Nosso novo plano de gestão prevê a expansão da reserva, alcançando 15 quilômetros ao longo do Côa e 2.000 hectares de terras interconectadas”, diz Smit. Segundo Berliner, a meta da ATN é financiar sua expansão explorando oportunidades de negócios sustentáveis, como o ecoturismo.
Apesar das ameaças relacionadas ao clima, ainda há um aspecto positivo. “Devido ao declínio populacional, esta região apresenta uma das menores incidências de monocultura de Portugal”, observa Leite. O processo de transformação das terras agrícolas abandonadas em natureza completamente selvagem não é simples numa região ambientalmente sensível e sujeita a secas e incêndios florestais. Ainda assim, de forma lenta, porém constante, a reserva particular da ATN está tendo um impacto positivo.
“Graças aos esforços coletivos de organizações como a ATN, esta região será estável e rica em biodiversidade nos próximos anos”, conclui Leite. O
PRATHAP NAIR é jornalista independente em Düsseldorf, na Alemanha.
Feita por e para líderes de transformação
social de todo o mundo e de todos os setores
Unindo o melhor da teoria e da prática da inovação social, a SSIR Brasil é uma plataforma de debates sobre a transformação social no país.
Junte-se a essa iniciativa e apoie uma publicação que fala com os mais influentes agentes de mudança no Brasil e no mundo.
Confira as oportunidades de apoio, fomento e patrocínio
contato@ssir.com.br














































































Com o apoio dos nossos mantenedores, todo o conteúdo da plataforma é gratuito





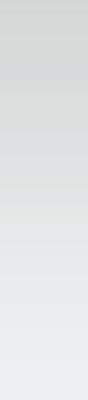
Um olhar profundo para o interior de uma organização
Para oferecer transporte a sua população, a metrópole indiana lançou o maior projeto metroviário em parceria público-privada do mundo. Os numerosos obstáculos do processo foram superados usando uma lógica voltada para os stakeholders
POR RAM NIDUMOLU, VIJAYA SUNDER M E PAVITRA MADHIRANO INÍCIO DOS ANOS 2000, Hyderabad passou a atrair trabalhadores de toda a Índia. Naquele momento, a metrópole do centro-sul do país estava se tornando rapidamente um grande polo de exportação e sede de grandes indústrias farmacêuticas e de serviços em TI.
Mas o boom econômico da cidade deixou um rastro de poluição e vias congestionadas. Em meados da década, Hyderabad precisava acomodar quase 3 milhões de veículos de passeio. A estimativa era que a classe média fizesse o número triplicar em uma década.
O transporte público enfrentava seus próprios desafios. Os ônibus, muitos deles lotados, levavam mais de 3 milhões de passageiros ao dia. O assédio às passageiras era frequente, e elas não tinham muitas alternativas para se deslocar.
Estava claro para o governo que a cidade precisava de opções econômicas, seguras e acessíveis. Mas funcionários chegaram à conclusão de que planejar e construir as instalações só com verba pública não era factível. A ideia foi engavetada.
Por que publicamos este texto
Embora alguns exemplos e práticas não caibam no nosso contexto sociocultural, o artigo oferece um caminho pragmático para construir o relacionamento com partes interessadas no âmbito de parcerias público-privadas, cada vez mais comuns no Brasil.


Em 2006, porém, Nallamilli Venkata Satyanarayana (NVS) Reddy, um alto funcionário municipal de Hyderabad, propôs uma alternativa: construir o metrô por meio de uma parceria público-privada (PPP). Para isso, a cidade se valeria de um veículo para fins especiais (SPV, na sigla em inglês) – entidade que concentraria capital de fontes diferentes. A nova organização poderia coordenar a iniciativa do metrô e administrar as participações de todas as organizações governamentais, semipúblicas e privadas envolvidas.
No ano seguinte, o governo indiano criou a Hyderabad Metro Rail Limited (HMRL) e nomeou Reddy diretor-executivo. A HMRL ficaria encarregada da supervisão do projeto e de encontrar um parceiro privado para projetar, financiar, construir e operar todo o sistema por um período de 35 anos, renováveis por outros 25 anos, se necessário. O sistema metroviário passaria para o governo local após o parceiro privado receber retornos suficientes sobre seu investimento. Por meio de uma combinação de financiamento de dívida, participação privada e investimento governamental, o projeto viria a custar algo próximo de US$ 3,6 bilhões, tornando-se uma das maiores parcerias público-privada
(PPP) de qualquer gênero na Índia e a maior de um sistema metroviário no mundo.
A PPP se beneficiaria dos vastos recursos financeiros do setor privado e da inovação, expertise, eficiência e redes de negócios que um parceiro privado traria. Este teria o direito da exploração imobiliária dos terminais da rede metroviária. Além da área do piso térreo do terminal, que deveria ser usada para serviços de manutenção, o piso de cima poderia ser usado como imóvel comercial. Esse aspecto do projeto não era novidade – o metrô de Hong Kong já havia incluído empreendimentos imobiliários em seu bem-sucedido modelo de PPP.
A ideia era que a iniciativa fornecesse apoio para o desenvolvimento urbano baseado em transporte coletivo, a exemplo de outros projetos metroviários no mundo, como o de Tóquio. Para não obstruir o trânsito rodoviário, o plano previu um sistema de trilhos elevados, com duas faixas numa plataforma elevada sobre o canteiro central de uma via. Além de funcional, a ideia visava ressaltar os aspectos estéticos da área. O projeto também ajudava a garantir ventilação natural e conservação de energia. O projeto e a execução foram pensados segundo padrões internacionais de segurança e qualidade.


Apesar de sua concepção atraente, PPPs de modo geral e, em especial, as de infraestrutura, costumam enfrentar inúmeros desafios que podem até inviabilizá-las. O metrô de Hyderabad não escapou a isso. Construir um projeto de transporte público gigante no coração de uma metrópole indiana em parceria com uma empresa privada envolve interesses religiosos, culturais e políticos. O êxito final da equipe da HMRL chama a atenção para a importância do gerenciamento de stakeholders em iniciativas grandes e intersetoriais.
A ESCOLHA DO PARCEIRO PRIVADO
AS DUAS PRIMEIRAS MISSÕES DA HMRL, foram traçar um mapa da rede metroviária e iniciar o concurso de licitação para encontrar o parceiro privado ideal. As prioridades foram cobrir as principais áreas da cidade e fazer a conexão com terminais de transporte de trem e ônibus preexistentes.
A equipe do metrô identificou três corredores de tráfego de alta densidade que cobririam cerca de 72 quilômetros, com um total de 65 estações de metrô. O primeiro corredor teria 29 quilômetros e 27 estações, conectando os extremos noroeste e sul da cidade. O segundo teria 28 quilômetros e 23 estações, ligando leste e oeste. O terceiro teria 15 estações ao longo de 15 quilômetros, atravessando o segundo corredor transversalmente. O projeto era ambicioso: os custos estimados de material e mão de obra eram da ordem de US$ 2,5 bilhões. Os processos de licitação do governo indiano não são simples, exigindo aprovações de diversos ministérios. Por isso, a concepção de um conjunto pré-definido de documentos técnicos, jurídicos e financeiros revelou-se crucial, uma vez que o processo só poderia ter início depois que todos estivessem satisfeitos quanto à viabilidade técnica, jurídica e financeira do projeto.
NVS Reddy, diretor da iniciativa para construção do metrô de Hyderabad, examina o trabalho em uma das plataformas elevadas do sistema
A HMRL enfrentou o desafio adicional de criar pela primeira vez um conjunto de documentos adequados às necessidades de uma metrópole indiana. Foram incluídos acordos de concessão, manuais de especificações e padrões, modelo financeiro para a iniciativa e para os parceiros privados, projeções de tráfego para o uso das instalações do metrô, entre outras questões. Essa documentação tinha de ser submetida à análise preliminar das potenciais licitantes. Para que as empresas concorrentes pudessem dar feedback, houve necessidade de audiências pré-concorrenciais, de modo que elas e seus modelos financeiros e de negócio pudessem ser ajustados. O ineditismo da iniciativa exigiu que a HMRL buscasse no exterior modelos de documentação e processamento.
Para preparar o acordo de concessão e o manual de especificações e padrões, a equipe contou com a experiência dos advogados e funcionários do Serviço Administrativo Indiano (IAS, na sigla em inglês), que à época atuavam junto à comissão nacional de planejamento. A meta do grupo era converter as especificações técnicas do projeto em índices de desempenho mensuráveis, a fim de manter o projeto no caminho certo. Atender a esses indicadores exigia flexibilidade dos concorrentes potenciais. Por exemplo, era esperado que fossem introduzidas inovações de ponta para o projeto das estações de metrô, dos pilares de sustentação e das pontes ou viadutos sobre os quais correriam os trens. Além disso, as obras deveriam transcorrer sem interrupções do trânsito, durante a noite. Por fim, o parceiro deveria empregar as mais recentes tecnologias de comunicação para gerir o número e a frequência dos trens requeridos para servir a uma cidade do tamanho de Hyderabad.
Na concepção da iniciativa, o financiamento do governo deveria ser mínimo. A equipe da HMRL deveria deixar bem claro que a PPP estava sendo construída para que o setor privado arcasse com a maior parte do financiamento do projeto, por meio de uma combinação de investimento de capital e dívida. O governo faria um aporte único para cobrir o restante do projeto.
Durante o período previsto para a concessão, 35 anos mais outros eventuais 25, as tarifas de eletricidade se manteriam no valor vigente no início do acordo de concessão. Embora o governo estivesse disposto a arcar com até 40% dos custos totais do projeto em forma de concessão, a equipe da HMRL preferia um parceiro privado disposto a solicitar um valor menor. Além disso, eventuais aumentos de custo no projeto deveriam ser cobertos pela parte privada.
A renda do parceiro privado viria das tarifas pagas pelos passageiros habituais e do faturamento não tarifário, advindo de aluguéis de imóveis e de receitas publicitárias durante a concessão. Embora o governo não tivesse participação nas receitas não tarifárias, a partir do 21º ano do período passaria a receber 0,5% das receitas tarifárias anuais, montante limitado a um teto de 10% da renda total nos anos restantes do período de concessão.
A licitação teve início em 2008, com a entrega da documentação e a expectativa de que diversos grupos de consórcio se candidatassem. No início de 2009, um consórcio liderado pela Maytas Infra venceu a concorrência com uma proposta de US$ 2,87 bilhões para construir cerca de 72 quilômetros de malha metroviária em Hyderabad, seguindo um modelo de projeto, construção, financiamento, operacionalização e transferência (conhecido como base DBFOT), por 30 anos.
A Maytas era parte do Grupo Satyam, um conglomerado familiar que incluía a Satyam Computers, uma das maiores empresas de serviços em TI da Índia. Em julho de 2009 a Satyam Computers foi engolida por um escândalo financeiro, após o fundador do grupo, Ramalinga Raju, confessar uma fraude contábil de quase US$ 1,5 bilhão, mediante manipulação das contas da empresa. O escândalo manchou o contrato do metrô, com críticos apontando corrupção na concorrência que escolhera o consórcio Maytas. O governo indiano cancelou o acordo e iniciou uma nova licitação.
O Larsen & Toubro (L&T) Group, inteiramente dedicado a serviços de infraestrutura, obteve a concessão em julho de 2020.
Diferentemente de uma agência governamental, que pode impor desapropriações, a equipe de gestão da HMRL precisava convencer os proprietários a vender seus terrenos, e os ocupantes, a abrir mão de seu uso
O grupo solicitou apenas 12% do custo total do projeto como concessão governamental. O investimento do L&T baseava-se em 70% de financiamento de dívida e 30% de investimento de capital.
A L&T Metro Rail (Hyderabad) foi incorporada como um SPV para implementar a iniciativa. O acordo financeiro celebrado em março de 2011 previa que o SPV assumisse uma dívida em torno de US$ 2,5 bilhões, estipulada por um consórcio bancário liderado pelo Banco Estatal da Índia, o maior do setor público no país. O L&T Group investiria cerca de US$ 750 milhões como capital próprio no SPV, enquanto o setor público, por meio do governo do estado de Andhra Pradesh, concederia uma subvenção de cerca de US$ 320 milhões para viabilizar um custo total de US$ 3,6 bilhões. Com seus quase US$ 3,25 bilhões em dívidas e financiamento em capitais próprios, a PPP do metrô de Hyderabad era o maior investimento em projeto único realizado pelo L&T Group.
AAQUISIÇÃO DE TERRENOS
APÓS A ASSINATURA DO ACORDO DE CONCESSÃO em 2010, as atenções da HMRL se dirigiram para a aquisição de terrenos. As desapropriações para construir as vias elevadas já haviam sido quase todas feitas. Mas faltavam ainda os terrenos para as estações, estacionamentos contíguos, espaços de manutenção dos trens e outras obras de infraestrutura, bem como alargar vias em torno das linhas, garantindo o fluxo do tráfego motorizado após a construção. O contexto – uma cidade com séculos de história, muito densa, habitada por grupos sociais variados – revestiu a tarefa de enorme complexidade. Diferentemente de uma agência governamental, que pode impor desapropriações, a equipe de gestão da HMRL precisava convencer os proprietários a vender seus terrenos, e os ocupantes, como vendedores ambulantes, associações comerciais, instituições religiosas, estabelecimentos locais e outros locatários, a abrir mão de seu uso. Em um projeto público como o do metrô, governos e agências ficam vulneráveis à oposição de partidos políticos, instituições locais e das comunidades locais, em um movimento que pode ameaçar a popularidade do projeto. Em cada localidade afetada pelas obras, havia bases diferentes para essa oposição, e essas idiossincrasias obrigaram a ajustes no processo de aquisição de terra em cada caso, exigindo estratégias diferentes, como se vê a seguir.
Oferecer boas compensações | O caso de Uppal, região suburbana pouco desenvolvida na zona leste de Hyderabad, é um bom exemplo de oferta atraente. Ali, o projeto requeria um terreno razoável para estacionamento e zonas de manutenção, e uma ampla faixa de pastagem parecia o local ideal. Em 2011 a equipe da HMRL iniciou o processo de aquisição. Mas a área estava sendo usada por quase
900 criadores de cavalos. Além disso, a posse das terras estava havia décadas em disputa judicial. Para complicar ainda mais, a equipe da HMRL percebeu que partidos políticos que se opunham à aquisição fomentavam a ira dos ocupantes.
A equipe da HMRL respondeu a isso organizando reuniões com os criadores, individualmente e em grupo, tanto localmente quanto na sede da companhia. Foram discutidos os planos para o metrô e as vantagens que ele traria para a região. A equipe ofereceu pacotes compensatórios atraentes àqueles que teriam terrenos afetados pela construção do terminal.
As propriedades não tinham edificações, por serem usadas apenas como pastagem. Além disso, a maioria dos criadores era da casta de NVS Reddy, que lançou mão de contatos pessoais e profissionais para conquistar a confiança e lealdade deles.
A equipe propôs que os criadores reunissem suas faixas de terra e as vendessem ao governo. Quem o fizesse seria compensado com cerca de 830 m2 de terreno urbanizado para cada 4.000 m2 que vendesse. Como a renda média dos criadores era de apenas US$ 400 anuais, os pacotes compensatórios mostraram-se vantajosos para a maioria. Eles incluíam um montante para atenuar perdas de renda anual, além de terras em rápida valorização. O processo foi concluído em julho de 2012.
Apresentar um futuro promissor | À equipe também cabia promover a visão mais positiva possível do projeto. A disputa por Sultan Bazar, região crucial na aquisição de terrenos, em razão da sua localização central, exemplifica isso. Suas ruas tinham apenas dez metros de largura, com muitos comerciantes, ambulantes e clientes congestionando o trânsito e obstruindo calçadas dia e noite. Quando a aquisição dos terrenos se iniciou, em 2011, os vendedores organizaram uma bandh (paralisação), porque percebiam que as linhas de metrô lhes custariam seu negócio. Bradavam slogans como “Sultan Bazar, Badi Chowdi ka heritage bachao, Metro Rail mat lao” (Salvem Sultan Bazar e a tradição de Badi Chowdi! Não ao metrô!) e exigiam que as linhas fossem redirecionadas. Ali, a equipe da HMRL enfrentou também forte oposição política, uma vez que a área tinha muitas instituições educacionais e culturais que estimulavam a contestação por parte de líderes e lobistas.
À medida que a oposição aos planos ganhava corpo, a situação ficava cada vez mais delicada. Durante um dos encontros da comunidade, comerciantes locais chegaram a lançar cadeiras na equipe da HMRL. Govind Rai, político local e presidente do Comitê de Ação Conjunta de Sultan Bazar, à frente dos opositores, exigia que a equipe da HMRL fizesse a linha do metrô subterrânea ou que contornasse a localidade.
“Iniciamos nosso movimento em 2011, quando pedimos a eles que não fizessem o metrô aqui, mostrando rotas alternativas”, diz Rai. “Eles disseram ‘não é factível’ e não concordaram”.

O projeto do metrô adotou um sistema de trilhos elevados, para evitar a obstrução de vias de tráfego; a opção também levou em conta o aspecto estético e a ventilação natural
Com um espaço mais amplo e organizado, a área comercial ficaria mais ordenada, tornando-se mais atraente para a clientela.
O caso de Sultan Bazar serviu para fixar um padrão para lidar com opositores em outros bairros, afirma Mendu Naidu, executivo da L&T. “É estratégico mostrar às outras partes da cidade os benefícios do metrô. Com isso você cria um impacto positivo junto ao público, de modo que as pessoas começam a se perguntar ‘por que não ter um metrô?’.”
Fazendo frente às preocupações dos opositores, a equipe da HMRL organizou apresentações de três a quatro horas para mostrar que a iniciativa beneficiaria tanto a cidade como um todo quanto a comunidade local. Previa-se que as obras criassem 50 mil novos empregos e trouxessem cerca de US$ 10 bilhões em investimentos para Hyderabad. Além disso, o metrô seria um símbolo de igualdade, unindo pessoas de todas as classes e castas, que usariam os mesmos vagões climatizados, sentando-se perto umas das outras. O metrô também traria benefícios a grupos ali presentes, como donos de terrenos, vendedores ambulantes e lojistas.
A equipe da HMRL então convidou representantes dos oponentes a negociar. Foi enfatizado que o metrô lhes possibilitaria alargar as vias e abrir a área para mais desenvolvimento, o que aumentaria os valores dos imóveis.
“Tudo foi colocado no papel”, lembra Rai. “O metrô ia precisar de apenas 19 metros para atravessar Sultan Bazar. As lojas municipais do bairro também receberam garantia por escrito de que os estabelecimentos ficariam intactos. E aí tinha os ambulantes, uns 300. Para acomodá-los, cerca de 200 barracas foram erguidas sob o viaduto.”
A equipe chegou a propor que se obtivessem permissões e isenções especiais para os donos de terrenos em Sultan Bazar. As restrições existentes perderiam o efeito, e os proprietários poderiam então construir pisos extras em suas casas e edifícios. Também foi feita a promessa de um ponto central na região para a associação de vendedores ambulantes. Em vez de expor a mercadoria nas ruas, teriam cabines com espaço delimitado para seus negócios –um paraíso para os ambulantes. Os comerciantes também seriam beneficiados, já que a área em frente a seus estabelecimentos ficaria livre de ambulantes; além de ruas mais largas, haveria mais espaço para suas lojas e tendas, e o afluxo de clientes seria maior, em razão dos passageiros do metrô.
Facilitar a aquisição | Por fim, houve casos em que a equipe da HMRL precisou recorrer aos tribunais, como nas negociações em Miyapur. O processo de aquisições chegou a esse pujante subúrbio de Hyderabad em 2010. A área tinha diversas comunidades residenciais, e uma boa parte desses terrenos pertencia originalmente a pessoas que migraram para o Paquistão após a Partição da Índia, em 1947. Com isso, passaram a ser considerados propriedade “do inimigo”, que agora poderia ser apropriada pelo governo. Porém, como os registros de propriedade estavam em mau estado, sobretudo os da década de 1940, era difícil determinar se o proprietário no momento da aquisição era o legítimo dono ou se tinha ocupado ilegalmente terras que poderiam ser reclamadas pelo governo.
A complexidade acabou exigindo arbítrio judicial. Em 2012, a Alta Corte de Andhra Pradesh decidiu a favor da HMRL em todos os casos que lhe foram apresentados. Em troca da propriedade da terra em disputa, exigiu-se que a HMRL depositasse US$ 40 milhões em um fundo para compensar quaisquer demandas legais que futuramente viessem a ser feitas por proprietários. Esse foi um caso raro em que a HMRL optou por recorrer à Justiça em vez de convencer os proprietários a vender seus terrenos. A companhia considerou que essa seria a via mais simples para adquirir as propriedades em massa.
Até 2023, a equipe havia conseguido adquirir e ocupar 69 dos 72 quilômetros originalmente planejados para as linhas. Os últimos continuam em negociação. Eles cobrem a área da Cidade Velha de Hyderabad, onde a oposição política e religiosa tem imposto dificuldades.
APOIO DECISIVO
ADQUIRIR TERRENOS PARA AS OBRAS DO METRÔ, por mais complicado que fosse, revelou-se até fácil em comparação com a dificuldade de conquistar stakeholders críticos à construção do sistema ou ao menos dispostos a dificultá-la. Ao enfrentar com habilidade questões ligadas a religião e castas, a equipe de gestão da HMRL criou um contexto de apoio para o projeto, modelando a opinião pública e obtendo endosso político.
Abordagem de questões religiosas | Um dos maiores desafios,
À medida que a oposição aos planos ganhava corpo, a situação ficava cada vez mais delicada. Durante um dos encontros da comunidade, comerciantes locais chegaram a lançar cadeiras na equipe da HMRL
sobretudo durante a aquisição dos terrenos, foi a relação com instituições religiosas como igrejas, templos e mesquitas. Mais de 30 delas foram afetadas pela construção do metrô, algumas sendo alvo de desapropriação. Além de mostrar por que as linhas do metrô precisavam passar por suas terras, NVS Reddy teve de apelar a seus sentimentos religiosos.
“Grupos distintos exigiam estratégias distintas”, recorda. “No caso dos hindus, um membro da equipe [dessa religião] vinha e tocava os pés do líder [religioso], dizendo ‘por favor, não entre no caminho desse projeto’. Demorou, mas depois de um ano e meio, ele cedeu. Se a estrutura fosse muçulmana ou cristã, eu enviava meu engenheiro-chefe (que era muçulmano) e funcionários cristãos, respectivamente.”
Em outro exemplo ilustrativo, a equipe tinha de adquirir um terreno de um templo em Secunderabad para ampliar uma via que acomodaria a linha do metrô. Foi feito um acordo de compra, com o modo de pagamento sendo decidido em tribunal. Mas antes de realizar o acerto, a HMRL teve de pedir ao templo que mudasse um mastro de bandeira de lugar, já que ele estava bem onde passariam as instalações elétricas do metrô. O caso é que o mastro de bandeira era considerado sagrado e só poderia ser transferido em circunstâncias extraordinárias, exigindo um longo ritual. Os funcionários do templo dialogaram com especialistas religiosos, que aprovaram a transferência e providenciaram um protocolo detalhado para ela. Os funcionários do templo também fizeram um orçamento minucioso da relocação, submetido à equipe da HMRL.
“Eles [a HMRL] concordaram com todas as condições e aceitaram pagar integralmente as despesas para a mudança de local”, lembra Alladi Gowrishanker, presidente do comitê do templo. “Fizeram questão de priorizar uma resolução rápida.”
A companhia não se limitou a tentar agradar os locais. Se a proposta de compensação oferecida por um terreno fosse recusada, a equipe da HMRL “ilhava” a estrutura religiosa – isto é, impunha restrições ao tráfego e ao comércio no entorno, limitando drasticamente o acesso dos devotos. As negociações continuavam, com as autoridades religiosas pressionadas pela situação.
O problema das castas | O sistema de castas é outro aspecto fundamental do contexto indiano, o que logo ficou claro para a companhia. De acordo com o censo indiano de 2011, 16,6% dos indianos se identificavam como dalits – grupos marginalizados naquela sociedade, por não serem considerados parte do sistema de castas. Bhimrao Ramji Ambedkar, ativista pela liberdade e um dos autores da Constituição Indiana, foi um líder reverenciado por essa comunidade. Após sua morte, em 1956, ganhou estátuas por toda a Índia, como acontece com Mahatma Gandhi. Seu legado entrou em rota de colisão com o projeto do metrô no início de 2011, quando membros da comunidade dalit passaram a protestar contra planos de
remover uma dessas esculturas de uma área necessária às obras. Alguns dos manifestantes queimavam retratos de NVS Reddy, e a situação ameaçava sair do controle. A equipe da HMRL marcou uma reunião com todos os líderes comunitários.
“Durante a reunião, antes até de apresentarmos nossas exigências, os dirigentes da HMRL se propuseram a construir uma estátua maior e melhor do dr. Ambedkar, fazendo um parque na área ao redor dela”, conta Napari Chandrasekhar, um dos líderes dos protestos. “Deram-nos plena liberdade para escolher o material, a localização e o projeto da estátua [...] e até forneceram um engenheiro e um paisagista para nos ajudar.”
A estátua foi erguida 45 dias após a reunião. O caso forneceu um modus operandi para futuras remoções e realocações e ajudou a equipe a obter o apoio das comunidades.
Moldar a opinião pública | Após a sua experiência com a oposição local ao metrô, a equipe da HMRL decidiu-se por uma abordagem mais proativa, com o intuito de moldar a opinião pública a seu favor.
“Começamos a fazer campanhas na TV e debates no rádio”, diz Narsayya Rajeshwar, diretor geral da HMRL. “De duas em duas semanas, fazíamos debates de duas horas, envolvendo os stakeholders, pedindo a sua opinião, esclarecendo suas dúvidas.”
Conforme políticos de oposição começaram a tomar partido, NVS Reddy percebeu que a HMRL tinha de conquistar mais apoio público para a iniciativa do metrô.
“Todo fim de semana eu conduzia um fórum aberto num canal de TV, no qual qualquer pessoa podia fazer perguntas –era um fórum telefônico”, conta Reddy. “Então eu escrevia poesias e entoava canções populares em telugu [o idioma popular do estado]. Dá para motivar e convencer muita gente com canções populares.”
Obtenção de apoio político | Fazer política também foi essencial para o êxito do projeto. A iniciativa de construção do metrô enfrentou oposição desde o início, com críticos afirmando que ela iria drenar os recursos do Estado. O apoio político que mais importava era o do partido da situação, mais especificamente o do ministro-chefe do estado. No período de 2004 a 2009, o ministro-chefe de Andhra Pradesh
A linha azul do metrô de Hyderabad corta a cidade de leste e oeste, indo da estação Nagole até a Raidurg

(antes de sua separação, em 2014) era Yeduguri Sandinti Rajasekhara Reddy (YSR), do Partido do Congresso. YSR se interessou por financiar a iniciativa, em parte devido à crítica de que ele estaria negligenciando as regiões urbanas do estado em favor das zonas rurais. No entanto, YSR faleceu de repente, num acidente de helicóptero em 2009, quando a construção do metrô entrava numa nova etapa de licitação, que selou a parceria com o L&T Group.
Entre 2009 e 2010, o novo ministro-chefe, Konijeti Rosaiah, enfrentava oposição cerrada dentro e fora de seu partido, mostrando-se reticente em dar apoio ao projeto. Como o respaldo financeiro estatal contínuo era fundamental para que o projeto vingasse, em 2010 a equipe da HMRL escreveu uma carta que Rosaiah deveria enviar para Manmohan Singh, primeiro-ministro à época, e para Sonia Gandhi, líder do Partido do Congresso – que ocupava o poder estadual e federal. A carta fazia referência aos planos e enfatizava o bem-sucedido processo licitatório vencido pelo L&T Group, com custos mínimos para todos os envolvidos. Durante seu mandato, de 2004 a 2014, Manmohan Singh e o Partido do Congresso defenderam a presença do setor privado no desenvolvimento da Índia. O modelo de infraestrutura com gestão por PPP estava bem alinhado a suas prioridades. O projeto recebeu forte endosso também de membros da Comissão de Planejamento da nação.
Ao constatar esse apoio e diante da escolha do parceiro privado, em 2010, o ministro-chefe dispôs-se a fornecer financiamen-
to estatal para a iniciativa. “Políticos se associam a um projeto quando ele exerce um impacto positivo importante na mente das pessoas”, afirma Mendu Naidu, executivo sênior da L&T. Uma vez iniciada a construção, diz ele, o ritmo acelerado das obras mobilizou o apoio popular.
EM 2023, COM MAIS DE SEIS ANOS DE OPERAÇÃO, o metrô de Hyderabad cobria 69 quilômetros e planejava se expandir rumo às partes mais antigas da cidade e ao aeroporto. Contava 750 mil viagens ao dia e ambicionava atingir 1 milhão de passageiros diários. Se, por um lado o número de usuários e a ocupação dos negócios imobiliários do metrô foram severamente afetados durante os anos da covid-19, os índices começavam a dar sinais de crescimento: o faturamento anual da L&T totalizava US$ 57 milhões, dos quais 55% vinham de passagens de usuários e os restantes 45%, de receitas não tarifárias, como aluguéis e publicidade. Além de esperar um aumento tarifário com o crescimento do número de usuários, previa-se que também as demais receitas se ampliariam, uma vez que os 390 mil m2 de imóveis disponíveis começavam a ser alugados. Como resultado, para os anos seguintes esperava-se um crescimento também da taxa de retorno para o projeto, que naquele momento era de 2,5%.

Os dados apontam para o sucesso no longo prazo. A experiência da HMRL sugere que os condutores de iniciativas em PPP de amplo escopo precisam desenvolver uma lógica de stakeholder. A equipe dirigente teve de ser inclusiva, relacional, empresarial e firme em relação aos vários círculos que precisava conquistar. Identificamos especificamente quatro tipos de tendências ou modos de conduta, sintetizados com o acrônimo Weld – widened, engaged with, leveraged, and distributed benefits, ou benefícios ampliados, envolvidos, amplificados e distribuídos. A equipe de gestão ampliava, se envolvia, potencializava e distribuía benefícios de maneira equitativa ao conjunto de stakeholders.
Ampliação | Uma lógica de stakeholder exige que a equipe de gestão saiba quem são as partes interessadas no processo, quais seus interesses e suas atitudes para com a iniciativa. Stakeholders são indivíduos ou grupos afetados pela iniciativa e que, por sua vez, têm o poder de influenciar seu desenvolvimento. Uma vez que esses impactos não são fáceis de prever, para a equipe de gestão é importante considerar o maior conjunto possível de stakeholders. Por exemplo, um partido político que hoje esteja na oposição nas esferas de governo central ou estadual pode vir a ser situação, tornando-se capaz de frustrar o projeto.
A conduta dos dirigentes no sentido de ampliar o conjunto de interessados implica ir além do grupo usual de stakeholders diretos – parceiros privados comerciais, líderes políticos no governo e agências de governo que supervisionem a iniciativa. Ela inclui também os indiretos, como partidos políticos de oposição; grupos religiosos, culturais e ambientais; associações comerciais de vendedores ambulantes, lojistas, incorporadoras e donos de imóveis comerciais; associações de donos de imóveis; por fim, as mídias, que podem influenciar a opinião pública. A capacidade e o desejo de se manter a par dos interesses e atitudes de um amplo conjunto de stakeholders indiretos depende de uma determinação inclusiva, que envolva todas as partes e agentes, mesmo aqueles que de início sejam, ou pareçam ser, hostis ou ambivalentes.
Envolvimento profundo | Uma lógica de stakeholder exige também que a equipe de liderança se envolva de maneira contínua, paciente e flexível com interessados importantes. Um envolvimento profundo garante que as parcerias com stakeholders sejam bem-sucedidas diante das mudanças inevitáveis em qualquer iniciativa de amplo escopo. Só nos primeiros quatro anos de existência da HMRL (2007 a 2011), a equipe de gestão sobreviveu a um escândalo financeiro, oposição política, protestos públicos, dois concursos de licitação, uma exaustiva busca por um parceiro de reserva, além de intensas negociações com o novo parceiro e com bancos, tudo isso para obter os recursos para erguer do chão a infraestrutura. Além disso, durante o processo de aquisição dos terrenos (2010 a 2015), ao mesmo tempo que tinha de man-
ter o envolvimento profundo com o L&T Group e com as agências dos governos central e local, a equipe da HMRL tinha de forjar e sustentar parcerias com novos stakeholders, como grupos religiosos, socioeconômicos e castas, cujos monumentos, comércio e terrenos fossem afetados pela construção do metrô.
Iniciativas públicas de amplo escopo exigem tirar o envolvimento com stakeholders diretos do nível transacional e levá-lo para o profundamente relacional. O mesmo se aplica aos indiretos, que podem se mostrar poderosos no futuro. Mesmo quando contratos formais governam as relações com stakeholders diretos, o grau elevado de incerteza graças a mudanças inesperadas no contexto – político, socioeconômico, religioso e cultural – demandará abertura e flexibilidade para compartilhar informações e coordenação ao lidar com outros interessados e ao renegociar contratos. Mesmo com contratos assinados entre as partes, a preocupação em construir relações e confiança devia ser entendida como central para lidar com complicações imprevistas, incertezas e mudanças. Isso vale especialmente para stakeholders indiretos, com os quais construir relações profundas demanda paciência e persistência.
Recursos amplificados | Uma lógica voltada para as partes envolvidas não vê os stakeholders apenas como detentores de interesses econômicos (ou “stakes”, “o que está em jogo”), como investimentos financeiros, propriedades, meios de subsistência e outros que possam ser afetados pela iniciativa. Ela os considera também fontes de influência e de recursos que poderiam reunir (ou pôr a perder) outros stakeholders e cuja atuação pode ser determinante para o valor e o êxito globais da iniciativa. Na verdade, os recursos que os stakeholders trazem podem ser potencializados de maneira positiva (ou negativa, se não houver cautela) para a iniciativa.
Pratibha Agarwal (no centro, à esq.) conduz uma prática para usuários do metrô em comemoração do Dia Internacional da Ioga, 21 de junho, em 2019

No metrô de Hyderabad, stakeholders indiretos como líderes religiosos, de castas, líderes políticos de oposição, de grupos ambientalistas, criadores, de associações comerciais e a mídia impressa e televisiva não apenas têm interesses quanto a terrenos, subsistência e apoio local que devem ser protegidos; eles têm também o poder de atrapalhar a iniciativa ao se manifestarem publicamente. Seus protestos e a retirada de apoio ao plano poderiam influenciar outros stakeholders.
Não é raro que, em projetos de infraestrutura, forças econômicas, sociais, culturais, religiosas e políticas saiam do controle mediante a ação de stakeholders indiretos. A equipe da HMRL administrou esses riscos e amplificou o apoio desses stakeholders, com vistas a acionar uma dinâmica positiva para o projeto, lançando mão de reuniões bilaterais e demonstrando disposição a compartilhar os créditos pela iniciativa, além de defender de forma persistente os benefícios advindos dela, atuando proativamente para fomentar o apoio público.
Em especial nas iniciativas de PPP de amplo escopo, amplificar os recursos de stakeholders exige uma mudança da orientação das lideranças. Em vez de burocrática, ela deve ser empresarial. Os stakeholders não são simples entidades independentes, com interesses individuais e desconectados. Eles atuam de forma interdependente e têm interesses e recursos substituíveis, que podem ser explorados a fim de estabelecer uma dinâmica positiva. Uma orientação empresarial busca retornos extraordinários sobre recursos relativamente limitados mediante o efeito multiplicador de um influente apoio de stakeholders. Essa lógica reconhece também que a oposição de stakeholders indiretos, mas influentes, como instituições religiosas e associações comerciais, tem a capacidade de erodir rapidamente o apoio de stakeholders diretos e poderosos, como o governo e o partido político de situação, o que por sua vez poderia fazer a iniciativa naufragar.
A orientação empresarial encontra soluções inovadoras também na reunião de recursos informativos, financeiros e de parceria para iniciar, manter e concluir o projeto; para conduzir negociações bem-sucedidas com stakeholders; para fazer uso criativo de mídia social e digital, com vistas à constituição de apoio público. Também se vale da persistência para confrontar ameaças como escândalos financeiros, protestos públicos e a oposição de grupos afetados pela iniciativa.
Distribuição equitativa de benefícios | Por fim, em uma lógica de stakeholder, a equipe de gestão se volta para a criação de valor compartilhado e para a distribuição de benefícios de maneira mais equitativa entre todos os stakeholders. Ao longo de todo o projeto de construção do metrô, interessados que inicialmente se opunham à iniciativa acabaram convencidos a apoiá-la, mediante a ênfase contínua, pela equipe da HMRL, dos benefícios para Hy-
derabad de modo geral e para os interesses dos stakeholders em particular. Esse alinhamento entre os interesses dos grupos e os de Hyderabad foi fundamental para conquistar adesão para o projeto.
A distribuição equitativa de benefícios também requer abandonar uma orientação utilitarista em prol de uma mais propositiva. Ao assegurar que cada stakeholder (incluindo a equipe responsável pela implementação) pudesse realizar seu propósito individual e único com a iniciativa, ao mesmo tempo que contribuía para a finalidade mais ampla de melhorar a infraestrutura, os dirigentes da PPP garantiram alinhamento, identidade e participação entre os stakeholders e o projeto mais amplo. Melhoria da mobilidade, segurança e conforto nas viagens das mulheres e outros grupos marginalizados, mais investimento e desenvolvimento urbano, ganhos de reputação para a metrópole: todos esses são aspectos contemplados no escopo maior das iniciativas de transporte coletivo. Os benefícios individuais para os stakeholders incluíam a valorização dos imóveis da região e dos terrenos adquiridos, melhores instalações comerciais e espaços corporativos, estátuas ou estruturas religiosas de maior parte, ganhos para a imagem de partido político moderno e a participação, como membro de uma equipe, numa causa que se revelava apaixonante e visava a um bem maior.
O BEM COMUM
OCASO DO METRÔ DE HYDERABAD ilustra a força que tem uma lógica de stakeholder na condução de projetos de infraestrutura complexos. Numa democracia ampla e diversa, a governança eficaz de iniciativas públicas depende, em grande medida, do apoio contínuo de stakeholders políticos e públicos. Ampliar esse círculo, envolver-se profundamente com os interesses em jogo, amplificar os recursos dos stakeholders e distribuir os benefícios de forma equitativa permitiu à equipe da HMRL realizar um sistema de transporte que, mesmo operando por meio de empresa privada, obteve aceitação pública. O metrô, sem dúvida, terá um papel fundamental para moldar o futuro de Hyderabad enquanto a cidade continuar a crescer. A iniciativa ficará como um exemplo duradouro de liderança democrática que ousou sonhar grande pensando no bem comum. O
RAM NIDUMOLU é professor de práticas de comportamento organizacional na Escola Indiana de Negócios.
VIJAYA SUNDER M é professor assistente de práticas em gerenciamento de operações e diretor acadêmico do Centro para Inovação em Negócios na Escola Indiana de Negócios.
PAVITRA MADHIRA é pesquisadora associada de comportamento organizacional na Escola Indiana de Negócios.
O metrô terá um papel fundamental para moldar o futuro de Hyderabad enquanto a cidade continuar a crescer.
A iniciativa ficará como um exemplo duradouro de liderança democrática que ousou sonhar grande pensando no bem comum
A Health Care Without Harm é um movimento global com o objetivo de fazer o setor de saúde zerar suas emissões, buscando, na prática, criar mudanças para reverter a crise do ambiente
POR JOSH KARLINER
Ilustrações de Kumé Pather
A MUDANÇA CLIMÁTICA VEM SE ACELERANDO BEM MAIS DO QUE PREVIAM OS CIENTISTAS, provocando uma sequência de crises da qual pode não haver mais retorno. Se continuarmos queimando combustíveis fósseis e emitindo gases de efeito estufa como fazemos atualmente, os riscos relacionados à saúde só aumentarão. Uma estimativa conservadora aponta para um incremento de 9 milhões de mortes a cada ano até o fim do século.
Apesar das enormes consequências para a saúde, o setor, apesar de seu poderio ético e econômico e sua influência política em todos os níveis de governo, esteve praticamente ausente dos debates climáticos desde que os líderes mundiais assinaram a ConvençãoQuadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCC, na sigla em inglês), no Rio de Janeiro, há mais de 30 anos.
No entanto, recentemente, o setor entrou na briga. Hoje testemunhamos os estágios iniciais de um movimento global da assistência sanitária pela ação climática – uma onda crescente que
Por que publicamos este texto
A questão climática gera cada vez mais efeitos na saúde, em nível individual e coletivo. Isso ocasiona sobrecarga no setor de assistência, que independentemente disso já contribui para o aquecimento com altas taxas de emissões e resíduos. Este artigo mostra uma ação necessária e global para conter os efeitos dessa relação complexa.
a Health Care Without Harm (HCWH, Assistência à Saúde sem Prejuízos), organização onde trabalho, ajudou a criar. A HCWH é uma ONG internacional que, desde 1996, procura reduzir a pegada climática do setor de saúde e mobilizá-lo em prol da justiça e da saúde ambiental. Um dos gatilhos para as mudanças recentes que ajudamos a fomentar veio em 2019, com a nossa descoberta surpreendente de que, se a assistência à saúde fosse um país, seria o quinto maior emissor de gases de efeito estufa do planeta. Isso despertou nossa motivação. No entanto, se o setor contribui, paradoxalmente, para os problemas de saúde relacionados ao clima, ele também pode ser parte da solução. A partir desse insight, percebemos uma oportunidade para promover uma mudança sistêmica.
O artigo mostra como esse movimento se desdobrou, cresceu e para onde está indo, à medida que seus esforços se somam à luta global por um clima mais saudável. Analisamos como a conscientização e o envolvimento evoluíram rapidamente no setor de assistência de saúde e, consequentemente, como deve evoluir em outros setores e em outras questões. Também tratamos dos desafios e limitações que o setor enfrenta ao assumir essa crise de identidade e, finalmente, tentamos aprender com a experiência que pode apoiar outras ações climáticas na saúde e promover transformações em outros setores da sociedade.

Uma crise da saúde
aCRISE CLIMÁTICA É UMA CRISE GLOBAL DA SAÚDE, que evolui rapidamente e que faz a pandemia parecer insignificante. As fortes tempestades, ondas de calor, inundações e secas severas que caracterizam a mudança climática já provocam grandes impactos na saúde humana. O estresse térmico agrava doenças pulmonares e mortes, aumenta o número de gestações de risco e afeta a idade gestacional e o peso de recém-nascidos. Os incêndios florestais causados por eventos climáticos poluem o ar em todos os continentes, provocando doenças respiratórias e várias outras enfermidades. No mundo todo, a infraestrutura de saúde foi abalada com esses eventos climáticos extremos, prejudicando a oferta de assistência médica. Casos de ansiedade climática e outros problemas de saúde mental estão aumentando. A elevação da temperatura também fomenta as doenças transmitidas por vetores, como malária, febre maculosa e chikungunya, em áreas onde não existiam ou não eram notificadas há muito tempo, colocando milhões de pessoas em risco.
A expansão do desmatamento em várias regiões também propicia a disseminação de doenças zoonóticas e aumenta o risco de pandemias futuras. Eventos climáticos extremos destroem a agricultura, aumentam a escassez de alimentos e a desnutrição em várias partes do mundo. O deslocamento e a migração de pessoas provocados pelo clima exacerbam ainda mais os desafios da saúde.
Todos esses fatos já estão sendo observados, e o mundo não alcançou a meta de manter 1,5º C de aquecimento acima da temperatura pré-industrial – que, para os cientistas, é um limite crítico a fim de evitar o descontrole climático. Sem uma redução rápida e radical das emissões, os impactos só aumentarão. A crise climática pode causar um retrocesso de décadas no desenvolvimento da saúde e em outros avanços que já conquistamos, fazendo centenas de milhões de pessoas de países de baixa e média renda voltarem à pobreza. Acertadamente, a Organização Mundial da Saúde (OMS) considerou a mudança climática a maior ameaça sanitária do século. Já não restam dúvidas de que a principal causa dessa ameaça global iminente é a dependência dos combustíveis fósseis. A queima de petróleo, gás e carvão é responsável por cerca 75% de todas as emissões globais e é também a principal causa da poluição atmosférica, que já responde por 20% das mortes no mundo todo, matando mais de 8 milhões de pessoas ao ano. Se não houver uma transformação ampla e profunda na matriz energética mundial, as emissões de gases de efeito estufa poderão, facilmente, duplicar esses resultados.
oPRIMEIRO PARÁGRAFO DO PRIMEIRO ARTIGO da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima de 1992 identifica os “efeitos deletérios, significativos” na saúde como um dos maiores impactos das mudanças climáticas. Durante vários anos, no entanto, à medida que a crise aumentava, os responsáveis pelas políticas climáticas, advocacy e filantropia ignoraram completamente a importância da saúde e da potencial influência que ela poderia exercer. Foi só na última década que o setor – médicos, enfermei-
ros, hospitais, sistemas de saúde, ministérios, gestores de políticas públicas, organizações internacionais, agências humanitárias, ONGs e entidades privadas e filantrópicas – começou a perceber as inúmeras implicações e impactos na área e abraçou a causa.
Em 2014, a Stanford Social Innovation Review publicou um artigo em que eu, em coautoria com o presidente e cofundador da HCWH, Gary Cohen, e com o professor Peter Orris, da Universidade de Illinois, relatamos o sucesso da organização à frente de uma campanha mundial para eliminar progressivamente o mercúrio – um poluente persistente que preocupa o mundo todo – no setor da saúde. Na conclusão do artigo, observamos que estávamos começando a aplicar o que havíamos aprendido com o mercúrio no enfrentamento da mudança climática.
Desde então, criamos uma rede global robusta. Estamos mobilizando profissionais, hospitais, sistemas e organizações, ministérios e secretarias e agências internacionais para combater o que o secretário-geral da ONU, António Guterres, chamou de “uma ameaça existencial para a humanidade”. Nosso objetivo é promover mudanças sistêmicas em larga escala.
Ao proferir o juramento de Hipócrates, o médico promete manter-se “longe de todo o dano voluntário”. Assim, nos concentramos em acabar com a contribuição da área à crise, a qual, em 2014, era de 4,4% das emissões globais líquidas, um número já significativo que aumentou para 5,2% em 2019. O que procuramos é alinhar o setor com a meta do Acordo de Paris, limitando o aquecimento a 1,5º C, para que a indústria possa zerar suas emissões líquidas até 2050. Vislumbramos uma abordagem de descarbonização inovadora, que trará benefícios para a saúde, para a adaptação comunitária e para a equidade no setor, levando em conta o setor econômico como um todo, incluindo as categorias climáticas tradicionais – energia, transporte, construção civil, alimentos, plásticos e resíduos. Isso requer transformar por completo o fornecimento da assistência, a construção e o funcionamento das instalações clínicas e a produção de bens e serviços na área. Atingir essas metas ambiciosas exigirá também a colaboração de outros setores econômicos e sociais.
A HCWH e alguns parceiros, incluindo uma pequena mas dinâmica equipe da OMS, começaram pregando no deserto. Hoje, formamos a rede chamada Global Green and Healthy Hospitals (hospitais globais verdes e saudáveis), que ajudou centenas de milhares de instalações de saúde, em 84 países, a perseguir metas de baixo carbono e assistência sustentável e adaptada aos impactos da crise. Defendemos mudanças de políticas públicas e desenvolvemos estratégias sustentáveis de aprovisionamento que poderiam usar o enorme poder de compra do setor para fazer os mercados globais optarem por cadeias de suprimentos mais ecológicos.
Na última década, percebemos que a participação vem aumentando ano a ano em todos os continentes. Instituições que representam milhares de hospitais, bilhões de dólares em despesas e milhões de profissionais da saúde deram os primeiros passos. No entanto, sabíamos que não podíamos nos dar por satisfeitos. Se a assistência de saúde continuasse a funcionar do mesmo modo, sua pegada climática poderia chegar ao triplo em 2050. Por isso, começamos a planejar um roteiro de caminhos e ações que, se seguido à risca, poderia se alinhar com as metas do Acordo de Paris e descarbonizar globalmente o setor da saúde até 2050.
eMBORA VÁRIOS ELEMENTOS TENHAM CONTRIBUÍDO para a mudança sistêmica em grande escala que estamos promovendo, houve um momento único, um ponto crítico que mudou tudo – o Programa de Saúde da COP 26 em Glasgow, na Escócia, em novembro de 2021. A partir daí, as ações passaram a se expandir de forma rápida e contínua. O programa foi uma colaboração entre o Reino Unido, à frente da COP, a Organização Mundial da Saúde e a HCWH. Ele durou pouco, mas seu impacto foi enorme. A iniciativa tinha o objetivo de reunir os ministérios da Saúde de pelo menos dez países que se comprometessem com nosso roteiro. Essas expectativas foram logo excedidas. Durante a COP, cerca de 25% dos governos mundiais – 52 ministérios da Saúde de países de baixa, média e alta renda – aderiram ao programa. Mais de 20% se comprometeram com o net zero. Na mesma ocasião, atores não governamentais que representavam mais de 14 mil hospitais e centros de saúde do mundo todo se comprometeram a zerar suas emissões com a Race to Zero (Corrida ao Zero) da UNFCCC, iniciativa que buscava levar negócios, governos subnacionais e a sociedade civil à meta estabelecida pelo Acordo de Paris.
A Aliança para a Ação Transformadora do Clima e Saúde (Atach, na sigla em inglês), uma entidade informal global sob o guarda-chuva da OMS, foi criada no início de 2022, para ajudar os 83 ministérios que aderiram às metas da COP 26 a trabalhar juntos pela sua implementação. Além disso, a Índia, durante a presidência do G20 no ano passado, garantiu, com o apoio técnico do Banco Asiático de Desenvolvimento, a adesão formal dos líderes e dos ministérios da Saúde dos países do G20 para alinhar seus sistemas de saúde com a Atach. Foi o primeiro compromisso coletivo sobre clima e saúde a ser firmado por chefes de Estado – e vale lembrar que os países signatários respondem por 75% de todas as emissões dos sistemas de saúde. Neste ano, sob a presidência do Brasil, o G20 terá a mudança climática entre suas quatro prioridades sanitárias.
O movimento para a assistência de saúde atingir o net zero continua a crescer, mas de um jeito complicado. Na COP 28, nos Emirados Árabes Unidos, a saúde foi considerada prioridade pela primeira vez. O tema ganhou um dia temático nas negociações climáticas de dezembro, quando foi anunciado um novo financiamento de US$ 1 bilhão para o clima e a saúde. A liderança dos Emirados Árabes Unidos e a OMS também comandaram a primeira reunião ministerial da saúde jamais realizada em uma COP, reunindo mais de 50 órgãos. Os participantes redigiram uma declaração sobre o clima e a saúde que incluía a agenda da Atach e foi endossada por mais de 140 países.
Paradoxalmente, o presidente da COP 28 é também diretor da empresa Nacional de Petróleo de Abu Dhabi, que é 12ª maior companhia petrolífera do mundo e junto a vários outros países, entre os quais os Estados Unidos, busca a expansão da exploração e da produção de combustíveis fósseis – enquanto sua eliminação é o principal passo para proteger a saúde pública da mudança climática.
Na COP 28, a HCWH e a Atach aumentaram a pressão do setor ao convocarem os líderes de organizações de saúde, que representam mais de 46 milhões de profissionais da área, a se alinharem com vários outros setores da sociedade para exigir do presidente da COP e dos membros dos governos a eliminação gradual da produção de carvão, petróleo e gás. As organizações se uniram a outros setores para impelir os governos a incluir esses compromissos no texto das negociações de Dubai. Os resultados foram conflitantes. Pela primeira vez na história das negociações climáticas, o texto exigia uma transição prevendo a eliminação dos combustíveis fósseis, indicando uma articulação por uma transformação e um primeiro passo para ações futuras. Ao mesmo tempo, as brechas eram enormes: o documento encorajava o gás natural como um combustível transicional e avalizava distorções perigosas, caso da aplicação de tecnologias não comprovadas, como a captura e o armazenamento de carbono. Essas falhas criaram as condições para uma batalha que deve se prolongar pelos próximos anos.
Tudo somado, ganhamos impulso. Tivemos enorme sucesso em mobilizar ações climáticas na assistência à saúde em um período curto, ajudando a colocar um setor que representa 10% do PIB global na rota da descarbonização, ao mesmo tempo fazendo dele um defensor de uma transição justa. No entanto, a breve história da ação climática está repleta de promessas vãs. As adesões dos governos pouco significam se eles não seguirem os planos, metas, cronogramas, financiamentos e medidas de fiscalização. Será preciso muito esforço para evitar novas expectativas frustradas e que as emissões do setor continuem aumentando.
Existe ainda uma série de obstáculos técnicos para a assistência à saúde zerar suas emissões líquidas. A cadeia de suprimentos – produção e distribuição de produtos farmacêuticos, instrumentos médicos, equipamento hospitalar, alimentos etc. – representa mais de 70% da pegada climática do setor. Para transformá-la, são necessárias mudanças sistêmicas profundas na regulamentação e manufatura, assim como na embalagem, transporte e descarte dos insumos. São passos que, por sua vez, exigirão uma ampla transformação econômica em vários países e a iniciativa do setor privado para mudar seus processos. Além disso, os governos e os sistemas de saúde precisarão definir regulamentações sustentáveis de aprovisionamento, de políticas e de práticas.
Quando hospitais alagam ou ardem em chamas, quando crianças têm os pulmões escurecidos pela poluição do ar, quando pacientes com sintomas devidos a temperaturas extremas sobrecarregam o atendimento, a própria crise se torna um catalisador da ação
Outros desafios ainda precisam ser enfrentados. Por exemplo, encontrar caminhos economicamente viáveis e equitativos para a descarbonização, criar uma consciência para a questão climática e prover programas de treinamento para todos os profissionais do setor, reformular planos de saúde públicos e privados, de modo que seus subsídios incentivem as operações de baixo carbono – e outros mais. Na verdade, ninguém sabe ainda como seria um sistema de saúde net zero. Precisamos inventá-lo coletivamente, e ele certamente surgirá dos experimentos e avanços em diferentes partes do mundo. É importante destacar que, nos países grandes emissores e de renda mais alta – os que mais contribuem para o problema –, as soluções terão de ser mais rápidas e, em muitos casos, poderão ser bem diferentes das aplicáveis a países de baixa renda, nos quais, além de uma assistência de carbono baixo ou zero, será preciso promover acesso universal e equitativo ao sistema de saúde.
Felizmente, milhares de hospitais e sistemas de saúde tanto no Norte quanto no Sul Global estão comprometidos com o net zero e empenhados em criar soluções em diferentes frentes. Vários governos também trabalham para desenvolver e implementar planos para honrar os compromissos. O crescimento contínuo desse movimento deverá colocar um dos maiores setores socioeconômicos do planeta em uma rota climática cada vez mais inteligente, que poderá servir de modelo para toda a sociedade.
que agora?
tRÊS FATORES IMPORTANTES desempenharam um papel fundamental para as mudanças no setor avançarem.
Primeiro, há apenas cinco anos, muitos atores do setor de saúde não consideravam o clima como uma prioridade. Atualmente, no entanto, os impactos das mudanças climáticas na saúde estão no radar de um número crescente de profissionais e gestores de saúde no mundo todo. Quando hospitais e unidades de saúde alagam ou ardem em chamas, quando crianças atendidas neles têm os pulmões escurecidos pela poluição do ar, quando pacientes com sintomas devido a temperaturas extremas sobrecarregam o atendimento nos centros médicos, quando as evidências mostram que a assistência de saúde é quem mais contribui para o problema, quando cientistas conceituados e a OMS destacam a urgência das mudanças climáticas, a própria crise se torna um catalisador da ação.
Segundo, a pandemia mostrou claramente o que significa uma crise multidimensional em escala planetária. Quando o surto de covid-19 começou a revelar a interconexão entre saúde e ambiente, a necessidade da ação climática nessa frente tornou-se mais evidente. A pandemia pôs os profissionais de saúde no foco das atenções. Ela expôs as profundas desigualdades no acesso ao atendimento médico diante de uma emergência global. Também ficou clara a necessidade de reforçar e transformar os sistemas para melhorar a prevenção e a preparação no caso de futuras pandemias e outros grandes desafios que a saúde poderá enfrentar no século 21 – incluindo a mudança climática.
Se em vários lugares os sistemas de saúde quase colapsaram na pandemia, como se comportará o setor diante de uma severa e crescente crise climática? Como nos preparar? O que fazer para evitar o problema? Surpreendentemente, médicos e enfermeiros
nas linhas de frente, hospitais, gestores e altos funcionários ministeriais começaram a se fazer essas perguntas em meio a uma crise que os fez trabalhar até a exaustão. Muitos priorizaram a ação. No pico da covid, por exemplo, a Providence, uma organização de saúde sem fins lucrativos que congrega 52 hospitais e clínicas médicas nos Estados Unidos, se comprometeu a zerar suas emissões até 2030 e elaborou um programa para atingir essa meta.
Terceiro, os compromissos assumidos pelo alto escalão de ministérios da Saúde na COP 26 foram fundamentados em exemplos de acordos anteriores. A liderança do Reino Unido na questão do clima e da saúde em Glasgow baseou-se na experiência concreta do Serviço Nacional de Saúde da Inglaterra (NHS, na sigla em inglês), que, nos últimos 20 anos, se empenhou em promover, com sucesso comprovado, a descarbonização, planejando se tonar net zero até 2045. O sucesso do NHS legitimou o engajamento do Reino Unido com a causa durante sua presidência da COP, sinalizando para o mundo que a mudança era possível.
Da mesma forma, quando o Departamento de Saúde e Bem-Estar americano (HHS, na sigla em inglês) cogitava se comprometer com as metas da COP 26, foi encorajado por uma coalizão de grandes sistemas de saúde que já havia avançado bastante na questão – o Conselho Climático de Saúde dos EUA. Formado pela HCWH, ele reúne 21 grupos de saúde que representam mais de 600 hospitais em 43 estados, empregam mais de 1,3 milhão de pessoas e atendem mais de 81 milhões de pacientes anualmente. Naquela ocasião, o conselho enviou uma carta ao presidente Joe Biden e ao secretário do HHS, Xavier Becerra, apoiando a adesão do governo ao programa da COP 26. O governo assumiu o compromisso e iniciou esforços políticos, reguladores e espontâneos para sua implementação.
nOSSO SUCESSO AO ESTIMULAR o setor de saúde no enfrentamento das mudanças climáticas nos ensinou várias lições. Elas não só foram importantes para o movimento crescente sobre clima e saúde, mas também forneceram insights para movimentos sociais e agentes de mudanças preocupados com a questão climática em outros âmbitos. Elas se agrupam em quatro aprendizados.
1. A pandemia foi o prólogo. | A lição mais prática que a covid-19 nos ensinou sobre clima e saúde foi a de que a pronta resposta a emergências depende da implementação de princípios básicos. O primeiro destes é atenção primária – intervir antes que haja impactos na saúde. Para prevenir uma pandemia, pode-se pensar em preservação da biodiversidade, regulamentação da biossegurança, proteção da saúde animal e redução na disseminação de doenças zoonóticas. Já prevenir de forma eficaz os impactos da mudança climática na saúde exige uma reformulação profunda e de grande escala dos sistemas de energia do mundo todo, a fim de reduzir drasticamente as emissões de gases de efeito estufa.
A pandemia e a aceleração da crise climática nos mostram que essas duas prevenções estão relacionadas. Para prevenir essas ameaças é preciso não só interromper completamente o desmatamento generalizado de ecossistemas tropicais do mundo, como também formular uma abordagem colaborativa transetorial que integre a saúde de seres humanos, animais e sistemas naturais em

um todo único e interconectado. A nascente abordagem One Health tem o potencial de reunir diferentes setores em escala global, nacional e local contra essa variedade de crises interconectadas.
A covid também mostrou que precisamos nos preparar melhor para agir rápido. As instituições de saúde não se planejaram para uma pandemia, apesar dos alertas claros de que isso poderia ocorrer num futuro próximo. Hoje há previsões sobre os graves efeitos da mudança climática na nossa saúde. Embora alguns hospitais e sistemas de saúde estejam tomando as providências necessárias, ainda corremos o risco de sermos pegos de surpresa novamente. Seremos capazes de reunir a vontade política para a prevenção e preparação na escala necessária? O mundo possui ferramentas, tecnologias e conhecimento para ambas. A pandemia também mostrou que é possível fazer mudanças sociais rápidas e significativas. Um mundo conectado e interligado, com o respaldo do comprometimento político para combater uma ameaça existencial, pode fazer a “criatividade e a inovação funcionarem a uma velocidade inimaginável” – como definiu Liz McKeon, da Fundação Ikea, uma das maiores apoiadoras da HCWH, durante uma reflexão sobre lições da pandemia.
A pandemia também mostrou que médicos e enfermeiros são os porta-vozes mais confiáveis e respeitados na maioria das socie-
dades. Eles formam a linha de frente de qualquer emergência sanitária e exercem forte influência moral. Embora tenham ocorrido casos de desconfiança, esses profissionais demonstraram seu poder de persuadir a população e superar a polarização política com base na ciência e na expertise. Os líderes dos sistemas de assistência à saúde podem mobilizar a sociedade para enfrentar as mudanças climáticas – a maior ameaça à saúde do século.
2. Redes focadas em resultados bem definidos podem acelerar a mudança dos sistemas. | Depois do sucesso na eliminação do mercúrio, seguimos uma abordagem similar, atuando primeiro em hospitais locais, depois em sistemas de saúde regionais, nacionais e, finalmente, sobre a política global. No entanto, percebemos que a urgência da crise climática e a complexidade do setor de saúde demandavam uma estratégia mais sofisticada. Decidimos usar a maturidade e o vigor crescente do movimento para mobilizar nossos parceiros e colaboradores a interagir com outros atores pela mudança sistêmica em diferentes direções. Observamos que redes diferentes com um objetivo comum e em sincronia podem se reforçar mutuamente e se tornar mais robustas que entidades que perseguem isoladamente uma mudança linear.
Trabalhar do zero com organizações de base foi essencial para nossa estratégia. Nossa rede global identificou exemplos brilhantes nessa área e/ou plantou sementes que apoiam a cocriação, cultivo e agregação de experimentos bem-sucedidos sob diferentes condições: ricos e pobres, urbanos e rurais, norte e sul. Esse trabalho mostrou que é possível, tanto em nível nacional quanto internacional, estabelecer um ecossistema de mudança em grande escala. Esses avanços validaram as ações dos altos escalões políticos no mundo todo, provando que é possível avançar nesse campo.
O trabalho também mostrou que é essencial uma abordagem de cima para baixo. Nosso envolvimento com os especialistas da ONU, os Climate Change High-Level Champions, estimulou a participação de sistemas de saúde subnacionais e privados na Race to Zero e contribuiu para aumentar o número de entidades comprometidas com net zero. Nossa colaboração com a OMS e a presidência da COP do Reino Unido também criou um guarda-chuva sob o qual os ministérios da Saúde nacionais poderiam se unir ao Programa de Saúde da COP 26 e, a partir dele, à Atach. Esses compromissos e as políticas decorrentes foram muito além do que o movimento de assistência de saúde de base teria alcançado sozinho. Por outro lado, esse engajamento criou legitimidade política e, em alguns casos, pavimentou a rota por descarbonização e resiliência do setor, na base e em outros segmentos.
Essa abordagem baseada em rede e focada em resultados claros e bem definidos facilitou a interação entre abordagens de cima para baixo e de baixo para cima. Para criar o Programa de Saúde da COP 26, dispúnhamos de três redes globais que operavam em planos sobrepostos. Na posição de presidente da COP, o Reino Unido convocou sua rede diplomática e as embaixadas no mundo todo a entrar em contato com a liderança do governo; a OMS,, com uma participação paralela, acionou sua rede de escritórios regionais e nacionais para envolver os ministérios; e, simultaneamente, a HCWH utilizou sua rede global e seus parceiros para mobilizar os departamentos e equipes dos ministérios. Essa sinergia entre os três articuladores fomentou o comprometimento no mundo todo.
Hospitais e sistemas de saúde no mundo todo assumem compromissos pelo net zero
Alguns exemplos de descarbonização
Austrália – Hunter New England Health
O grupo com 120 instalações tem a meta de zerar emissões até 2030. Em uma delas, o Hospital John Hunter, tem o maior painel solar de um centro clínico no mundo. De 2020 a 2022, o grupo reduziu suas emissões em 24%, economizando US$ 1,45 milhão, reinvestidos em serviços médicos prioritários.
Brasil – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM)
A maior instituição filantrópica de assistência médica no país administra 17 hospitais com 31 mil funcionários. A rede treina
pessoal em estratégias de economia de energia. Eficiência energética, painéis solares, substituição de 80 mil lâmpadas fluorescentes por LED, redução de altas emissões de gases anestésicos e gestão de desperdício de alimentos reduziram as emissões da SPDM em cerca de 50% entre 2018 e 2021.
Índia – Aravind Eye Care System realiza 700 mil cirurgias por ano e gera 5% da pegada de carbono de cirurgias similares no Reino Unido. Suas estratégias incluem reutilização segura de materiais cirúrgicos, reciclagem de descartes, utilização de centros oftalmológicos locais para cirurgias, iluminação
Todos esses movimentos também criaram as condições propícias para uma série de esforços paralelos e fundamentais. Agências de desenvolvimento multilateral, como o Banco Mundial e o Banco Asiático de Desenvolvimento, por exemplo, estão examinando estratégias para organizar os mais de US$ 40 bilhões que eles e outros agentes gastam todos os anos em ações climáticas. Enquanto isso, agências financiadoras, como o Fundo Verde do Clima, estão discutindo como investir centenas de milhões de dólares em resiliência climática na assistência à saúde. Os governos que financiam essas instituições enfatizam categoricamente que esse esforço é prioritário. Por outro lado, o envolvimento dessas instituições garante que o financiamento e o desenvolvimento da saúde em países de baixa e média renda mudem nos próximos anos.
A cadeia de suprimentos em assistência à saúde, liderada pelo
eficiente, energia solar, telemedicina e materiais produzidos de forma sustentável.
Compromissos públicos
O NHS, sistema de saúde da Inglaterra, se comprometeu a zerar suas emissões até 2045. A meta virou lei.
A Academia Nacional de Medicina dos Estados Unidos criou uma Ação Colaborativa para a Descarbonização do Setor de Saúde no país, uma parceria público-privada de gestores de todo o sistema.
Os Países Baixos criaram um pacto para reduzir em 55% as emissões do setor até 2030 e chegar ao net zero até 2050.
Governos e organizações estão implementando estratégias para aumentar o acesso à saúde e criar resiliência com energia renovável, principalmente na África e Ásia. No mundo todo, quase 1 bilhão de pessoas utiliza instalações de assistência médica que não dispõem de sistemas confiáveis de energia elétrica.
Na Colômbia, 400 instalações de saúde estão trabalhando para criar um sistema de referência, identificar prioridades e desenvolver um plano (com força de lei) para promover a mitigação e adaptação no setor.
A Indonésia está elaborando um programa para medir a pegada de carbono de suas instalações públicas de saúde e assim implementar ações.
Argentina e Chile adotaram políticas que impõem medidas climáticas ao setor da saúde, que incluem tanto sua resiliência como sua descarbonização.
setor privado – grupos industriais que congregam fabricantes de equipamentos médicos, companhias farmacêuticas, seguradoras privadas, entre outros –, está cada vez mais preocupada com suas próprias contribuições para as pegadas do clima. Ela está reagindo aos sinais políticos e de mercado decorrentes desse movimento e começa a investigar formas de descarbonizar seus produtos e operações. Alguns gestores já defendem medidas reguladoras e a responsabilidade climática corporativa para os fabricantes desse setor.
Ninguém poderia prever por completo o grau de complexidade dessa mudança multidisciplinar, bem como reivindicar os louros por ela. Uma transformação radical nos sistemas de saúde exige que cada um dos vários elementos se envolva na transformação.
3. Crescer significa abrir mão. | Charlotte Brody, uma das fundadoras da HCWH, afirmou que “é possível reconhecer um movi-
O setor de ajuda humanitária, incluindo o Comitê Internacional da Cruz Vermelha e Médicos Sem Fronteiras, já considera os efeitos climáticos. Organizações de base defendem agressivamente o desinvestimento em combustíveis fósseis no campo da saúde
mento quando não se sabe tudo o que acontece nele”. As pessoas que trabalham na interseção entre clima e saúde forma, definitivamente, um movimento global. Nos últimos anos, o movimento superou o pequeno grupo inicial de organizações e redes que o fundaram e passou a incluir grandes instituições internacionais, dezenas de governos, milhões de profissionais de saúde e centenas de instituições com missões tão diferentes como vacinação, cobertura universal de saúde, prevenção de doenças não transmissíveis e erradicação da malária. Novas redes de médicos e enfermeiros defendem ar mais limpo e reivindicam medidas climáticas. Faculdades de medicina, associações nacionais de saúde pública e universidades renomadas estão cada vez mais engajadas. Duas das maiores entidades filantrópicas de saúde do mundo, a Wellcome Trust e a Fundação Rockefeller, se comprometeram a investir centenas de milhões de dólares em clima e saúde.
O objetivo da Aliança Global para o Clima e Saúde é unir esforços para apoiar a saúde nas negociações climáticas. O setor de ajuda humanitária, incluindo o Comitê Internacional da Cruz Vermelha e Médicos Sem Fronteiras, já considera os efeitos climáticos. Organizações de base da saúde defendem agressivamente o desinvestimento em combustíveis fósseis no setor da saúde, e o Movimento Saúde para o Povo, uma rede global de ativistas, organizações da sociedade civil e instituições acadêmicas, explora a interface entre a justiça sanitária e a climática. A Unitaid, iniciativa de inovação de produtos da saúde, deve investir US$ 100 milhões em tecnologia de baixo carbono nos próximos cinco anos. A Gavi, uma aliança internacional pró-vacinação, está empenhada em descarbonizar a cadeia de suprimentos dos imunizantes, e organizações como a Clinton Health Access Initiative utilizam sua experiência para influenciar o mercado e promover campanhas para reduzir a pegada de carbono da indústria farmacêutica.
A rápida expansão do movimento sobre clima e saúde está criando inúmeras oportunidades e recrutando mais participantes para a luta. À medida que essa nova realidade evolui, percebemos que nosso papel está mudando. Deixamos de ser os pioneiros responsáveis pelo impulso e estamos delegando a maior parte do trabalho aos outros. O principal foco de nosso trabalho está nos hospitais e sistemas de saúde, mas continuamos a mobilizar os profissionais em defesa da causa. Estamos trabalhando menos em iniciativas específicas e localizadas e nos dedicando mais a desenvolver ferramentas, manuais, treinamentos e políticas que apoiem mais implementação e defesa.
Estamos formando parcerias com grandes instituições com melhores condições de promover a transformação, como a OMS e o Banco Asiático de Desenvolvimento, e com um número crescente das principais organizações de saúde. Cada vez mais desempenhamos um papel de liderança, como facilitadores, catalisadores e parceiros do conhecimento. Criamos programas e iniciativas e as lançamos globalmente. Estamos aprendendo a deixar que elas evoluam e cresçam por conta própria. Nosso esforço tem se dirigido cada vez mais para a maior ameaça à saúde no âmbito do clima: a queima de combustíveis fósseis.
4. Para uma transição justa e saudável desvinculada dos combustíveis fósseis é essencial envolver toda a sociedade. | Apesar da grande mudança sistêmica que está se dando na assistência de saúde, a crise climática é mais rápida que outras transformações
do setor. Propelir a mudança para que o sistema de assistência de saúde atinja o net é importante, mas não basta por si só. Não podemos esperar esse objetivo sem uma ampla e profunda mudança sistêmica em outros setores sociais.
Nos últimos anos, a lição mais importante que aprendemos de nossa experiência é provavelmente a mais óbvia: alinhar a assistência de saúde com as metas do Acordo de Paris requer um esforço multissetorial muito mais amplo, que envolva toda a sociedade. É preciso abraçar esse objetivo, mirar os benefícios imediatos e fazer uma transição rápida, justa e saudável, afastando-se cada vez mais dos combustíveis fósseis, com vistas a uma produção de energia limpa, renovável, barata, acessível, descentralizada e saudável. Sem ela, a ação da saúde sobre o clima fracassará. Nenhum investimento em resiliência ou adaptação será suficiente se a temperatura global continuar subindo.
Por outro lado, incluir a saúde na ação climática pode ajudar a acelerar mudanças mais amplas necessárias para estabilizar o clima global. A voz confiável dos profissionais de saúde pode ajudar a combater o massacre da desinformação e a propaganda da indústria de combustíveis fósseis.
Embora uma transição rápida pudesse evitar grandes devastações causadas por um aumento de temperatura de dois a três graus centígrados, uma transição justa e saudável também poderia resolver alguns dos maiores problemas atuais da saúde. Por exemplo, ela poderia ajudar a limpar o ar, evitando milhões de mortes por poluição atmosférica e um gasto de trilhões de dólares dos sistemas de saúde, criando assim um círculo virtuoso. Uma transição para uma energia renovável descentralizada também poderia estimular a equidade da saúde, melhorando significativamente o acesso aos serviços médicos em um mundo onde cerca de 59% das instalações sanitárias em países de baixa e média renda ainda não têm fornecimento de energia elétrica confiável, necessário para fornecer a assistência básica. Finalmente, uma transição justa e saudável reduziria o peso do clima quanto a doenças transmissíveis e não transmissíveis, protegendo e melhorando a saúde dos seres humanos, dos animais e do planeta.
Na HCWH traçamos um roteiro para uma mudança transformacional dos sistemas de saúde para zerar as emissões do setor. Precisamos reconhecer o papel decisivo que ele desempenhou nos últimos 150 anos na estruturação do saneamento público, na proteção dos direitos dos trabalhadores, na não proliferação de armas nucleares, no combate ao HIV e no controle do tabagismo. Proteger a saúde pública da crise climática pode ser um grande desafio, mas poderemos ser bem-sucedidos aprendendo com o passado e inovando para o futuro. O
JOSH KARLINER é diretor da parceria global Health Care Without Harm.
O autor agradece ao Rockefeller Bellagio Center por hospedá-lo enquanto escrevia o artigo. Ele também agradece aos bolsistas residentes do centro por seu feedback e apoio, e a todos os colegas da Health Care Without Harm – principalmente Diana Picon Manyari, Gary Cohen, Nick Thorp, Lucila Citcioglu e Shweta Narayan. Finalmente, ele agradece às fundações Skoll, Ikea, Marisla, MacArthur e Robert Wood Johnson e aos valiosos parceiros da Health Care Without Harm por confiar na visão e capacidade da aliança para transformar a realidade.

DO SETOR SE DIVIDE A PARTIR DE VISÕES OPOSTAS SOBRE LUCRO; NOSSA ANÁLISE MOSTRA COMO AS NORMAS SOBRE SUA DISTRIBUIÇÃO
Por Dana Brakman Reiser ILUSTRAÇÕES DE JOHN WHITLOCK
EMPRESAS SOCIAIS SE PROPÕEM A UTILIZAR MÉTODOS EMPRESARIAIS PARA RESOLVER PROBLEMAS SOCIAIS.1 Como qualquer companhia, elas precisam tanto de capital quanto de confiança para atingir seu objetivo. Conciliar essa dupla necessidade, no entanto, pode ser particularmente difícil no caso de uma empresa social. Manter operações comerciais e ter acesso a mercados de investimento pode até garantir recursos para ampliar a escala da organização e seu impacto social, mas, em contrapartida, pode suscitar desconfiança de que se vão priorizar interesses financeiros próprios em detrimento do objeto social. É preciso afastar esse medo, convencendo investidores, trabalhadores, consumidores e o público em geral de que seu compromisso social é genuíno e sólido.
Por que publicamos este texto Ao fazer um apanhado da legislação mundial, a autora traz uma contribuição valiosa para o debate sobre o tema; no Brasil, que não foi contemplado na pesquisa, um projeto de lei para esse segmento empresarial está em tramitação e, por isso, trazemos, na sequência deste artigo, um texto com o contexto nacional, escrito para esta edição.
Marcos regulatórios ajudam a demonstrar que empresas sociais são confiáveis.2 Leis que regem empreendimentos com ou sem fins lucrativos servem a esse papel quando comportam a missão social e os métodos empresariais de um negócio social. Para os casos em que isso não acontece, há à disposição das empresas sociais um crescente rol de formas jurídicas e certificações específicas para essa necessidade. Podem ser formas jurídicas criadas especificamente por um país, beneficiando apenas entidades sob sua jurisdição/certificações desenhadas pelo poder público ou por entes privados; ou selos que identifiquem um empreendimento como empresa social, algo independente da estrutura jurídica e com aplicação supranacional. Tanto um quanto outro modelo jurídico pode ser aplicado para identificar uma empresa social, demarcando o espaço apropriado para esse tipo de organização e conferindo idoneidade a entidades neles enquadradas.3 Esses identificadores permitem que diferentes públicos – trabalhadores, consumidores, investidores e autoridades regulatórias – reconheçam essas empresas no mercado, seja por seu talento, seus recursos ou seu compromisso social. No entanto, algumas das técnicas das quais elas se valem para gerar confiança também limitarão seu acesso ao capital, produzindo o velho conflito entre confiabilidade e escala.
Com um estudo global, nossa equipe de pesquisa detectou uma clara dicotomia no enfrentamento desse dilema jurídico, tanto por parte do poder público como por entes privados.4 A ampla variedade atual de identificadores de empresas sociais se divide em dois grupos: estruturas que impõem limites à distribuição de lucros ou ativos a investidores ou indivíduos ligados às entidades qualificadas e aquelas que não o fazem.
A Bélgica é um exemplo da primeira abordagem. Lá, empresas sociais certificadas no plano federal podem distribuir lucros a investidores, limitada até a taxa máxima de retorno (de 6% atualmente). Na dissolução, o investidor pode receber, no máximo, o
desviar da missão social da empresa. Ao mesmo tempo, limites reduzem o atrativo financeiro do investimento, diminuindo o acesso ao capital privado. A capacidade de crescimento da empresa fica sujeita a tal limitação. No modelo da Colômbia, o custo acaba sendo alto demais: ao priorizar o apelo ao investidor, promove-se a formação de capital em detrimento da legitimidade maior conferida por alternativas com limites à distribuição. Os entes classificadores, assim como as empresas que eles buscam promover, enfrentam escolhas difíceis ao tentar conciliar confiança e escala, usando um desses dois caminhos bem distintos.
Distribuir excedentes ou não?
LIMITES À DISTRIBUIÇÃO VARIAM MUITO. Quando estritos, vetam totalmente a distribuição de lucros da atividade e do patrimônio residual. Em diversas partes do mundo, essa é a única modalidade para o modelo não rentável ou filantrópico. Organizações sem fins lucrativos (ou instituições de caridade, dependendo do lugar) não podem distribuir dividendos e devem reinvestir todo o lucro na organização e em sua missão. Se dissolvidas, devem transferir os ativos remanescentes a entidades sujeitas a restrições idênticas, garantindo que sejam destinados a atividades sem fins lucrativos ou filantrópicas in aeternum Como explicou o jurista Henry Hansmann décadas atrás, essa proibição gera confiança. É uma espécie de garantia, para doadores e patrocinadores, de que sua contribuição será destinada à missão da organização – e não desviada para ganhos individuais.5
Financiadores, funcionários, clientes e o público em geral requerem a garantia de que é possível contar com o compromisso assumido por empresas sociais. A confiança, no entanto, é só um
TRANSFORMAR COMPROMISSOS ABSTRATOS EM PORCENTAGENS
CONCRETAS, MAS TAMBÉM IMPÕE DESAFIOS DE CONCEPÇÃO E MEDIÇÃO.
DEVEM SER CLAROS E RELEVANTES
total de contribuições feitas; qualquer outro lucro residual deve permanecer investido no objeto social da empresa social que esteja sendo dissolvida.
O segundo grupo não prevê limite de distribuição entre os critérios de qualificação. No modelo colombiano de Beneficio e Interés Colectivo (BIC, benefício e lucro coletivo), por exemplo, não há teto. Empresas classificadas como BIC podem distribuir lucros e ativos como qualquer companhia.
Limites à distribuição, como os da Bélgica, sinalizam idoneidade. Tetos à distribuição de lucros operacionais e residuais diminuem a capacidade dos stakeholders – e de investidores – de se apropriar de lucros. Com isso, se reduziria também o incentivo a
dos ingredientes centrais para uma empresa social. Ela também busca capital para crescer, expandir operações e multiplicar o impacto. Formas jurídicas específicas e selos de certificação resolvem esse conflito de duas maneiras: impondo restrições parciais à distribuição, como no caso da empresa social certificada da Bélgica, ou eliminando os limites, como nas BICs da Colômbia. São duas abordagens bastante distintas na hora de promover tanto confiança quanto crescimento.
Modelos com restrição parcial permitem que entidades qualificadas distribuam lucros ou bens – em algum grau ou em certos momentos. Algumas certificações e formas jurídicas transmitem com mais força a idoneidade das empresas em questão ao impor restri-
ções severas, ainda que não absolutas. Já outras adotam limitações mais modestas e permitem uma distribuição maior para incentivar o investimento. Modelos que seguem essa rota intermediária, no entanto, rechaçam a distribuição irrestrita de lucros e bens, que é prerrogativa de empresas com fins de lucro.
Tetos de dividendos, como os da Bélgica, são um mecanismo popular de limitação parcial. Empresas pagam dividendos para distribuir lucros operacionais com investidores. Esse retorno financeiro, obtido enquanto a empresa está em atividade (e não só em caso de dissolução), cria um incentivo para o investidor. Em atividades rentáveis, dirigentes têm considerável poder para decidir se devem ou não pagar dividendos e em que montante – desde que não ameacem a viabilidade da empresa. Tetos para dividendos restringem esse poder, ao limitar a parcela dos lucros que pode ser distribuída entre investidores da empresa, independentemente de sua rentabilidade. Podem, portanto, obstruir o acesso da empresa social ao capital, mas o fazem a fim de reforçar sua missão.
Impor limites à distribuição de dividendos altera o equilíbrio entre confiança e escala. Preocupada com o acesso a capital, a Itália estipulou um limite relativamente alto para dividendos pagos por empresas sociais em 2017: 50% do lucro ou excedente operacional anual. No Reino Unido, o ente regulador das CICs (Community Interest Companies) afrouxou as normas relativas a dividendos duas vezes em cinco anos (em 2010 e 2014) com o intuito expresso de despertar o interesse de investidores. Hoje, o teto das CICs é de 35% do lucro anual, mesmo patamar aplicado a empresas com a certificação dinamarquesa de empresa social, a RSV.
Exigências de reinvestimento também limitam a distribuição de lucros operacionais, embora de forma indireta. Exigir que a empresa social reinvista parte expressiva do excedente ou lucro impede que tal parcela seja destinada a investidores. Nesse quesito, as normas variam muito. Na Romênia, uma empresa classificada como social precisa destinar no mínimo 70% do lucro ou excedente financeiro a atividades ligadas a seu objeto social. Na França, empresas registradas como de economia social e solidária (ESS) devem garantir que 50% dos lucros sejam reinvestidos ou destinados a reservas; certificações privadas do Social Enterprise Mark (SEM) na Irlanda e no Reino Unido e da Social Traders da Austrália, por exemplo, exigem um predomínio de gastos sociais.6 Já em Singapura, o principal marco regulatório de empresas sociais destina obrigatoriamente só 20% dos recursos a atividades que tragam impacto social.
A exigência de reinvestimento traz confiança ao transformar compromissos abstratos em porcentagens concretas, mas também impõe desafios de concepção e medição. Para que haja confiança, critérios de reinvestimento devem ser claros e relevantes. O requisito francês de carryover, ou “reserva”, é facilmente observado com o uso de normas contábeis comuns, mas a orientação sobre o uso dos recursos depende de outros atributos da classificação ESS. Certificações que se ancoram nos recursos dedicados a um objeto ou propósito social devem, então, definir os limites entre despesas sociais e de outra natureza e estabelecer parâmetros apropriados. Para determinar se uma empresa dedica pelo menos 50% do lucro obtido no ano anterior para cumprir seu objeto social, a Social Traders criou indicadores condizentes com diferentes modelos de impacto. Para empresas sociais que trabalham com inserção no
mercado de trabalho – ou seja, cuja atividade envolva basicamente a capacitação profissional de um público-alvo –, custos com pessoal pesam mais; já para as que busquem ter impacto com a doação de lucros, o tamanho da contribuição determina a conformidade.7
Asset locks são travas que podem dar proteção adicional contra a malversação de recursos de empresas sociais – como no regime belga. No caso de dissolução da empresa, quaisquer ativos remanescentes após a satisfação de obrigações perante credores devem ser obrigatoriamente repassados a entidades cujo objeto social é semelhante ao da empresa social sendo extinta. Como o nome sugere, esse “lock”, ou “trava”, mantém os recursos no setor social – embora também impeça em definitivo que eles sejam acessados por partes privadas, incluídos aí potenciais investidores que, em uma empresa sujeita a asset locks, têm seu potencial de retorno severamente restringido. Adotar um mecanismo desses manda dois sinais igualmente fortes: que o incentivo a qualquer desvio da missão social será minimizado e que o retorno de investidores será limitado. Mesmo em sistemas que restringem parcialmente a distribuição, asset locks não são universais. A obrigatoriedade de reinvestimento pelo regime de empresas sociais do Cazaquistão, pela certificação de empresas sociais de Abu Dhabi (nos Emirados Árabes Unidos) e pelo selo privado Social Traders na Austrália não conta com essas travas como complemento. Essas certificações preveem a possibilidade de retorno financeiro para investidores em caso de dissolução, embora restrinjam a distribuição de excedentes operacionais. Mas são a exceção. A maioria dos modelos de restrição parcial combina tetos de distribuição ou a obrigatoriedade de reinvestimento com asset locks, como no caso belga. Apesar do risco de afugentar investidores, entraves pesados à distribuição de excedentes parecem indispensáveis para reguladores desse grupo.
Sem amarras
OUTRAS FORMAS JURÍDICAS e certificações veem o valor de gerar confiança e o de promover o crescimento de forma bem diferente. Assim como a certificação colombiana BIC, esses modelos rejeitam qualquer restrição à distribuição de excedentes. O entendimento é o de que qualquer restrição – incluindo tetos de distribuição de dividendos, obrigatoriedade de reinvestimento ou asset locks – configuraria um risco inadmissível para a formação de capital, independentemente de gerar confiabilidade.
A disseminação dessa visão desimpedida da empresa social pode ser atribuída em parte à B Lab – a organização sem fins lucrativos sediada nos Estados Unidos cuja missão se traduz por algo como “usar o poder da atividade empresarial para promover o bem coletivo”. O selo da B Lab, o B Corp, é destinado a “empresas com fins lucrativos interessadas em considerar outros stakeholders e valores ou outra missão além de dar lucro para seus investidores”.8 Empresas com o selo B Corp podem continuar distribuindo excedentes ou ativos como qualquer empresa rentável. Para ter a certificação, no entanto, deve cumprir uma série de requisitos ligados a sua atuação e a seu propósito – segundo a B Impact Assessment, a
avaliação de impacto da B Lab –, bem como atender a critérios de governança e transparência.
Com suas filiais regionais, como o Sistema B na América Latina, a B Lab tem defendido que governos no mundo todo adotem sistemas alinhados com seu ideal de empresa social livre de restrições – com considerável sucesso. O selo B Corp e campanhas maiores de reforma do arcabouço jurídico têm contribuído para o surgimento de várias outras formas jurídicas e certificações que seguem esse padrão.9 Além das BICs da Colômbia e do Peru, a “benefit company” na província de British Columbia, no Canadá, a “public benefit corporation” (PBC) do estado americano de Delaware e a categoria “benefit corporation”, hoje presente na maioria dos outros estados americanos, já adotam elementos do modelo da B Lab – entre eles, a liberdade para a distribuição de lucros.
Mas nem sempre a ausência de restrições pode ser atribuída à influência da B Lab. Em resposta a pressões internas, certificações na China evoluíram no sentido de rejeitar uniformemente qualquer entrave à distribuição de lucros.
Entre 2015 e 2018, quatro cidades chinesas formalizaram o modelo de empresas sociais, seguindo diferentes abordagens. Pequim e Chengdu não impuseram nenhuma restrição; já as certificações de Shenzhen e Shunde vieram com a obrigatoriedade expressa de reinvestimento. No caso de Shunde, também há um mecanismo de asset lock. Hoje, nenhuma dessas restrições permanece em vigor. Foram abandonadas por entidades certificadoras em Shenzhen e Shunde durante o processo inicial de revisão dos critérios, para flexibilizar as normas e torná-las mais compatíveis com o contexto chinês. No momento, Taiwan está às voltas com o dilema, considerando tanto propostas para um regime de “empresa de interesse público”, que restringiria a distribuição de lucros, quanto um de “empresa de benefício”, que não imporia tais limites.
AESCOLHA POR MAIS OU MENOS restrições a lucros, na elaboração de formas jurídicas e certificações, reflete a visão de cada ente sobre o equilíbrio entre confiança e escala. Restringir parcialmente a distribuição ajuda a persuadir investidores, consumidores, funcionários e reguladores de que uma empresa social vai trabalhar por seu objetivo social. O ganho vai depender da intensidade dos limites ao pagamento de dividendos e da obrigatoriedade de reinvestimento – e se a eles se somam mecanismos de asset lock. O universo de investidores dispostos a fazer o sacrifício exigido para bancar empresas sociais certificadas na Bélgica pode não ser tão grande quanto o dos dispostos a investir em instrumentos tradicionais, mas limitar a capacidade de enriquecimento de investidores sinaliza àqueles que optam por investir que sua confiança não será traída. Além disso, ao investir, esses indivíduos, por sua vez, indicam seu próprio compromisso com a missão social da empresa para outros stakeholders importantes. Modelos sem restrições, como o colombiano BIC, tentam equilibrar de outra maneira a confiança e a escala. Governos e atores privados que concebem essas formas jurídicas e certificações reco-
nhecem que restrições à distribuição de excedentes podem fortalecer a confiança, mas priorizam o crescimento. Empresas sociais são incumbidas de solucionar desafios sociais imensos e renitentes. A distribuição irrestrita de lucros permite a plena participação de investidores e, por conseguinte, uma maior escala para financiar essas ambiciosas missões sociais.
Restringir a distribuição – ainda que parcialmente – reduz o poder do investimento na formação de capital. A meia-volta nas certificações de Shenzhen e Shunde e a escalada no teto de dividendos do CIC Regulator refletem essa realidade. Para não tolher o crescimento, modelos sem restrições apostam em outros mecanismos para garantir confiança.
PONDO DE LADO O DILEMA sobre restringir ou não a distribuição de lucros, no amplo universo de jurisdições que estudamos, vimos uma grande convergência em relação a outros aspectos importantes. Embora cada modelo descrito por nossa equipe de especialistas reflita o ambiente cultural, político e jurídico para o qual foi adaptado,10 quase todos se baseiam em uma combinação de requisitos ligados ao propósito da atividade, ao modelo de governança e à transparência para definir a categoria da empresa social.
Requisitos de propósito ou programa limitam as empresas certificadas a atividades ou setores centrados em impacto social. Certos modelos trabalham com um amplo universo de atividades permitidas, sem discriminar o setor. É o caso da empresa social certificada na Bélgica, da Sociedad BIC no Peru e do selo de fornecedor de impacto da Ākina na Nova Zelândia – cuja lista de propósitos sociais ou ambientais aceitos é vasta.11 No Reino Unido, para se enquadrar no regime das CICs, a empresa precisa apenas passar em um “teste de interesse comunitário”; ou seja, basta que “uma pessoa razoável considere que [as atividades da empresa] estejam sendo realizadas em benefício da comunidade”.12
Outros modelos são mais estritos quanto a propósitos ou programas aptos. A colombiana BIC, por exemplo, sofreu ajustes logo no início para exigir que toda empresa certificada indique, em seus estatutos, como seu modelo de negócios e práticas ambientais e de trabalho vão contribuir para o bem social. Nos casos mais extremos, o modelo aceita apenas entidades com uma só finalidade, caso da cooperativa social na Hungria, voltada apenas a ações de inserção no mercado de trabalho. Restringir o acesso de organizações a formas jurídicas ou a selos de empresa social com base em propósitos ou programas considerados aptos garante ao público que as certificadas estarão de fato comprometidas com metas sociais.
Diretrizes de governança encarregam indivíduos da própria empresa social de proteger sua missão, reforçando os controles internamente. A certificação de empresa social na Bélgica, por exemplo, é concedida apenas a cooperativas – e aposta em um esquema democrático de governança para garantir que as empresas honrem seu compromisso social. Regimes de cooperativa social presentes em vários outros pontos da Europa também contam com membros, beneficiários ou ambos para atestar que empresas certifi-

cadas ajam com legitimidade. A certificação italiana de empresa social exige a criação de um conselho supervisor que exerça esse papel de governança; no caso de empresas sociais de grande porte, seus stakeholders podem eleger um dos membros do conselho. O CIC no Reino Unido, a RSV na Dinamarca e o nível ouro do SEM exigem a participação de partes interessadas na governança, embora sem estipular estruturas ou processos específicos.
Nos Estados Unidos, novos formatos de empresa com fins específicos se baseiam em diretrizes de governança. A PBC de Delaware impõe três obrigações a fiduciários de empresas enquadradas no regime: equilibrar “interesses pecuniários de acionistas, interesses daqueles afetados materialmente pela conduta da corporação e benefícios públicos especificados em seus documentos de incorporação”.13 Estatutos de empresas similares em outros estados americanos
exigem que seus diretores levem em conta uma série de impactos em stakeholders em seus atos; na Colômbia, diretores de BICs devem considerar o benefício e interesse coletivos ao tomar decisões.
Nos Estados Unidos, investidores de PBCs e de benefit corporations podem recorrer à Justiça para que diretores dessas empresas cumpram seus deveres administrativos; já na Colômbia, tanto acionistas quanto qualquer pessoa que se sinta lesada por uma BIC podem pedir que o governo revogue a certificação de empresas que descumpram as normas. Para qualquer tipo de empresa em Delaware, alterações nos documentos de incorporação devem ser aprovadas pela maioria dos acionistas, e isso se replica nas PBCs – inclusive quanto a mudanças no propósito de benefício público consagrado nesse documento. Leis que regem benefit corporations em outros estados americanos também exigem que mudanças no objeto da empresa sejam aprovadas por acionistas. A adoção de qualquer um dos dois regimes satisfaz aos critérios de governança da B Lab para empresas americanas que almejem o selo B Corp. As distintas soluções de governança têm um único propósito: garantir que entidades qualificadas cumpram sua missão social.
Requisitos de publicidade se valem da transparência para reforçar a confiança. Exigir a divulgação pública de informações garante que acionistas, stakeholders, reguladores ou o público em geral acompanhem e fiscalizem as atividades da empresa social. Na Colômbia, acionistas devem não só receber, mas também aprovar relatórios anuais de impacto de BICs. Em outros lugares, o acesso a informes varia consideravelmente. Benefit companies na Colúmbia Britânica e a maioria das benefit corporations de estados americanos devem publicar relatórios anuais informando como conduzem suas atividades e buscam o benefício público. PBCs de Delaware devem produzir informes a cada dois anos, mas só são obrigadas a entregá-los aos acionistas. Já a CIC do Reino Unido e RSVs da Dinamarca apresentam informes anuais a entes reguladores, o que facilita o acesso público.
Curiosamente, poucos desses regimes incluem mecanismos de fiscalização ou mesmo penalidades em caso de descumprimento dessas normas – o que, segundo evidências iniciais, é frequente.14 Além disso, não há consenso sobre indicadores de desempenho. Incorporar transparência aos modelos de empresa social só vai promover a confiança quando houver acesso a informações relevantes e quando o respeito à norma for generalizado.
Tipos de empresas e certificações especiais definem categorias jurídicas nas quais potenciais fontes de capital, stakeholders e o público em geral podem confiar, aumentando o acesso a recursos e o apoio da sociedade – indispensáveis para o sucesso da empresa social. Adotar diretrizes ligadas a propósito, governança e transparência nesses modelos contribui para a confiabilidade dessa atividade. Esses critérios se repetem em países de diferentes rendas, ordenamentos jurídicos e independentemente de que os modelos que os impõem restrinjam ou não a distribuição de lucro.
Incentivos à empresa social
ALÉM DO APOIO INDIRETO conferido pela classificação como empresa social, esses negócios também podem receber ajuda do Estado.15 Formas jurídicas e certificações especiais transmitem a terceiros tranquilidade para investir, trabalhar, fazer negócios ou interagir com a empresa social. Outra forma de apoio, mais direto, vem de subsídios públicos ou benefícios para aumentar recursos ou reduzir custos da empresa social. Governos do mundo todo já testam essa abordagem.
Benefícios fiscais podem ir para a própria empresa social ou para seus apoiadores. Na Suíça, são limitados e concedidos à organização em si. Empresas dedicadas a “propósitos idealistas” (não rentáveis) e cujo excedente financeiro seja baixo são isentas de tributação sobre lucros de até US$ 20 mil aproximadamente. O modelo de empresa de interesse público proposto por Taiwan prevê alíquotas reduzidas àquelas que se qualifiquem. De 2016 a 2022, o município americano de Filadélfia ofereceu a 50 detentoras do selo B Corp (em anos posteriores, a 75) um abatimento de US$ 4.000 no Imposto de Renda (IR).16
Preferência em compras é uma forma de dar a empresas sociais tanto suporte material quanto prova de conceito, formando uma base de clientes para seus produtos ou serviços. Cooperativas sociais europeias e RSVs dinamarquesas podem receber tratamento preferencial à luz das diretrizes de compras adotadas por Estados-membros da União Europeia. A Romênia permite que autoridades públicas reservem contratos para empresas classificadas como sociais. Nos Estados Unidos, dois condados dão preferência em licitações a propostas recebidas de benefit corporations ou de B Corps.18
A Colômbia pretende priorizar BICs em processos licitatórios, mas só como critério de desempate. A Social Traders e a Ākina criaram seus selos privados com a meta expressa de garantir prioridade a empresas sociais em processos de compras. Seus esquemas de empresa social e fornecedores de impacto certificados foram feitos para identificar empresas aptas a receber tratamento preferencial na Austrália e na Nova Zelândia, respectivamente.
Os incentivos para empresas sociais estão só começando a ser testados. Até aqui, sua trajetória parece seguir a divisão entre modelos que impõem ou não limites à atividade da empresa social.
A maioria dos esquemas de benefício fiscal e de preferência em compras para empresas sociais está vinculada a formas jurídicas ou a certificações que limitam a distribuição de excedentes financeiros, a fim de reforçar a idoneidade das entidades qualificadas. É o caso da empresa suíça com propósitos idealistas, da empresa de interesse público de Taiwan, das CICs do Reino Unido, das cooperativas sociais da União Europeia, das RSVs da Dinamarca e dos selos Social Traders e Ākina: todos adotam tetos para pagamento de dividendos, obrigatoriedade de reinvestimento, asset locks ou uma combinação dessas restrições.
Raramente há incentivos públicos relevantes sem essas salvaguardas. Em países como China, Colômbia e Peru, e em certos estados e províncias nos Estados Unidos e no Canadá, houve um forte desenvolvimento de formas jurídicas e certificações de em-
EMPRESAS SOCIAIS PROMETEM EMPUNHAR FERRAMENTAS DO MEIO CORPORATIVO PARA ENFRENTAR GRANDES DESAFIOS DO MUNDO.
PARA HONRAR ESSA PROMESSA, PRECISAM CONQUISTAR A CONFIANÇA E ATRAIR RECURSOS DE UMA SÉRIE DE AGENTES. PARA ISSO, É PRECISO HAVER GARANTIAS. FORMAS JURÍDICAS ESPECÍFICAS E CERTIFICAÇÕES ESPECIAIS PODEM AJUDAR
Em outros experimentos, o benefício fiscal vai para quem investe nas empresas sociais. Atualmente, na Bélgica, os primeiros € 200 de juros recebidos por investidores de certas empresas sociais certificadas são isentos de IR. Investimentos em títulos de renda fixa ou ações em CICs do Reino Unido foram incluídos no esquema Social Investment Tax Relief (SITR), criado pelo país em 2014. Com o SITR, o contribuinte podia abater 30% do custo de investimentos qualificados do IR devido e não devia tributos sobre ganhos de capital resultantes. Embora o Parlamento britânico tenha estendido o regime até abril de 2023 (além do previsto originalmente), o esquema não foi renovado.17
presas sociais sem restrições à distribuição. Até agora, nesses lugares, há menos disposição a vinculá-las a benefícios fiscais e preferências em compras relevantes.
Nossos dados, embora globais, são incompletos e provenientes de experiências incipientes, o que limita as conclusões definitivas. Isso posto, a relação que desponta entre restrições à distribuição de excedentes e incentivo público reforça a importância de conciliar confiança e escala. Para dar benefícios fiscais ou preferência em compras a empresas sociais, legisladores devem ter certeza de que não haverá malversação de recursos públicos. Exigências ligadas a propósitos e programas, à governança e à publicidade de
informações fortalecem a crença no compromisso da empresa social. Mesmo restrições parciais à distribuição parecem dar fortes garantias a legisladores e a cidadãos. Além disso, vincular modelos restritivos a incentivos públicos pode mitigar o custo que esses modelos impõem ao capital.
A combinação de limites à distribuição de excedentes e acesso a recursos públicos é um meio-termo feito para gerar confiança e, ao mesmo tempo, permitir o crescimento. A compreensão dessa troca evidencia a necessidade de explorar outras maneiras de buscar tal equilíbrio. Ao investir em normas e fiscalização, um governo poderia fomentar até modelos livres de restrições – pois a garantia de que haverá fiscalização ajudaria a convencer legisladores e cidadãos quanto à legitimidade da missão de uma empresa social e até a justificar incentivos públicos que promovam seu crescimento. Atores privados também podem dar uma contribuição expressiva. No mundo todo, certificações privadas já servem como uma espécie de aval, e soluções como financiamento criativo, contratos com consumidores e estruturas de emprego podem reforçar a confiança sem sacrificar a escala.
Um destino, muitos caminhos
EMPRESAS SOCIAIS PROMETEM empunhar ferramentas do meio corporativo para enfrentar grandes desafios do mundo. Para honrar essa promessa, precisam conquistar a confiança e atrair recursos de uma série de agentes. Para isso, é preciso haver garantias. Em certos casos, marcos jurídicos tradicionais já bastam. Quando não, formas jurídicas específicas e certificações especiais podem ajudar. Criar novos modelos requer atenção aos paradigmas normativos e políticos nos quais se inserirão – bem como ao delicado equilíbrio entre sinalizar confiança e permitir escala.
Entender a centralidade desse equilíbrio na elaboração de marcos jurídicos para empresas sociais ajudará governantes, ativistas e acadêmicos a promover a atividade dessas companhias e seu impacto. Legisladores e reguladores podem se concentrar em definir o que querem – fortalecer confiança versus promover crescimento – e, a partir daí, conceber as formas jurídicas e certificações mais adequadas. Ativistas também podem calibrar seus argumentos e intervenções, propondo modelos públicos ou criando certificações privadas condizentes com seus valores. Novos estudos podem usar a dicotomia confiança-escala para criar uma taxonomia de opções jurídicas para a classificação de empresas sociais. Um modelo viável tornaria testes empíricos de distintas estratégias muito mais factíveis e poderia até embasar a replicação futura de estruturas jurídicas atuais. O
DANA BRAKMAN REISER é Centennial Professor na Escola de Direito do Brooklyn. Editou, com Steven A. Dean e Giedre Lideikyte-Huber, o livro Social Enterprise Law: A Multijurisdictional Comparative Review (Intersentia, 2023).
NOTA S
1 Robert H. Gertner, “The Organization of Social Enterprises”, Annual Review of Economics, vol. 15, 2023.
2 Duas publicações recentes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) discutem a utilidade de estruturas de identificação de empresas sociais adotadas em diferentes países e trazem sugestões e melhores práticas para entes reguladores. Ver Designing Legal Frameworks for Social Enterprises: Practical Guidance for Policy Makers; o documento, de 2022, explica que marcos jurídicos “legitimam empresas sociais e estendem o conceito jurídico de ‘empresa’ a entidades que combinam abordagem empreendedora com missão social e, cada vez mais, ambiental”. Ver também Policy Guide on Legal Frameworks for the Social and Solidarity Economy; este, de 2023, descreve como marcos regulatórios para empresas sociais e outras instituições de economia social e solidária podem contribuir para o desenvolvimento do setor e facilitar seu acesso tanto a capital quanto a apoio estatal.
3 Dana Brakman Reiser e Steven A. Dean, Social Enterprise Law: Trust, Public Benefit, and Capital Markets, Nova York: Oxford University Press, 2017; Sofie Cools, “Social Entrepreneurship: The Choice Between Labels, Variants, Dedicated and Conventional Corporate Forms”, European Company and Financial Law Review, vol. 20, no. 1, 2023.
4 O estudo ocorreu sob os auspícios da Academia Internacional de Direito Comparativo (AIDC ou IACL, respectivamente nas siglas em francês e inglês pelas quais a entidade se identifica). Steven A. Dean, Giedre Lideikyte-Huber e eu montamos um grupo de especialistas para analisar a legislação de empresas sociais em mais de 20 jurisdições distintas. Cada especialista forneceu uma exposição do marco jurídico empregado em seu território para identificar, incentivar e regular entidades que empregam métodos empresariais para alcançar metas sociais. Esses informes, com uma ampla análise internacional e informes adicionais sobre temas que transcendem fronteiras nacionais, foram publicados por nós três em Social Enterprise Law: A Multijurisdictional Comparative Review, Cambridge, Reino Unido: Intersentia, 2023. As informações discutidas aqui, bem como referências a modelos de países específicos, são baseadas nos dados contidos na obra.
5 Henry Hansmann, “The Role of Nonprofit Enterprise”, The Yale Law Journal, vol. 89, no. 5, 1980.
6 Ver, por exemplo, Social Enterprise Mark CIC, “Social Enterprise Mark –Eligibility Criteria”; Social Traders, “Social Enterprise Certification: Guidance Notes and Standards”.
7 Social Traders, “Social Enterprise Certification”.
8 B Impact Assessment Knowledge Base, “Can Nonprofits Become Certified B Corps?”.
9 Carol Liao, “Social Enterprise Law: Friend or Foe to Corporate Sustainability?”, em Beate Sjåfjell e Christopher M. Bruner (ed.), Cambridge Handbook of Corporate Law, Corporate Governance and Sustainability, Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press, 2019; Brett McDonnell, “Benefit Corporations and Strategic Action Fields or (The Existential Failing of Delaware)”, Seattle Law Review, vol. 39, no. 2, 2016.
10 Ver também Janelle A. Kerlin, “Defining Social Enterprise: A Conceptual Framework Based on Institutional Factors”, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, vol. 42, no. 1, 2013.
11 Ver, por exemplo, Ākina, “Impact Certification”.
12 UK Companies (Audit, Investigations and Community Enterprise) Act, § 35(1), 2004.
13 Delaware General Corporate Law § 365.
14 Ellen Berrey, “Social Enterprise Law in Action: Organizational Characteristics of U.S. Benefit Corporations”, Transactions: The Tennessee Journal of Business Law, vol. 20, 2018 (índice de conformidade 6%); J. Haskell Murray, “An Early Report on Benefit Reports”, West Virginia Law Review, vol. 118, no. 1, 2015 (índice de conformidade 8%); comparar Maxime Verheyden, “Public Reporting by Benefit Corporations: Importance, Compliance, and Recommendations”, Hastings Business Law Journal, vol. 14, no. 1, 2018 (índice de conformidade com exigências de publicidade em Delaware (8%), Colorado (11%), Oregon (14%), and Minnesota, onde estado atipicamente penaliza a não conformidade [100%]).
15 Cf. OECD, Designing Legal Frameworks
16 Filadélfia, “Sustainable Business Tax Credit”.
17 HM Revenue & Customs, “Tax Relief for Investors Using Venture Capital Schemes”, 6.out.2023; HM Treasury, “Social Investment Tax Relief: Call for Evidence”, 23.mar.2021.
18 Cook County Chief Procurement Officer, “Social Enterprise Preference” (preferência de proposta de 5% para benefit corporations); Los Angeles County Consumer Business Affairs, “Small Business: Social Enterprise” (para propostas de benefit corporations ou B Corps certificadas, ainda que excedam propostas de concorrentes em até US$ 150 mil).
VIVEMOS UMA MUDANÇA DE CULTURA EMPRESARIAL GLOBAL E HISTÓRICA. É crescente o número de negócios que, por dor ou por amor, têm adotado práticas mais sustentáveis nas últimas décadas. Segundo a KPMG, 73% das 250 maiores empresas do mundo seguem a Global Reporting Initiative, com padrões para a divulgação do impacto socioambiental de suas atividades.
A Bloomberg prevê que os investimentos ESG atingirão US$ 53 trilhões até 2025, representando um terço do total de ativos sob gestão global. E, segundo pesquisa Google Ipsos, 54% dos consumidores brasileiros optam por produtos social e ambientalmente responsáveis, o que evidencia mudanças nas expectativas dos stakeholders.
O movimento se faz acompanhar por uma espécie de tsunami normativo. Recentemente, a Europa aprovou a CS3D (Corporate Sustainability Due Diligence Diretive), diretriz que define critérios para a diligência corporativa, com o objetivo de promover a sustentabilidade e enfrentar mudanças climáticas.
No bojo dessas transformações, uma das iniciativas econômicas mais inovadoras foi o surgimento das empresas B. Desde 2006, mais de 8.600 negócios receberam a certificação, o que exige passar por um rigoroso processo de medição, avaliação e verificação de impacto nas práticas de governança, meio ambiente, comunidade, clientes e colaboradores. Atualmente, essa comunidade global contabiliza 800 mil colaboradores em 98 países de 163 setores distintos; mais de 300 mil empresas usam a ferramenta de gestão de impacto B Impact Assessment.
E REGENERATIVA
Por Marcel Fukayama ILUSTRAÇÃO DE CATARINA BESSELLApesar de todos os avanços, os desafios globais não dão sinais concretos de melhora, e o progresso parece insuficiente. O mais recente estudo sobre desigualdades da Oxfam nos alerta de que estamos mais próximos de ter o primeiro indivíduo trilionário do que de erradicar a pobreza. Na questão ambiental, seguimos uma trajetória que coloca em xeque o compromisso de limitar o aquecimento do planeta a 1,5 ºC acima dos níveis pré-industriais. Esse contexto incita à reflexão sobre como fazer essa transformação ganhar escala. No artigo que ocupa as páginas anteriores, Dana Brakman Reiser mostra que, em todo o mundo, a legislação enfrenta um difícil compromisso entre cultivar a confiança pública e promover a escala de negócios de impacto – que ela chama de empresas sociais. Sua análise revela que restringir a distribuição de lucros aumenta a confiança nessas empresas, mas pode limitar seu crescimento e o acesso ao capital. Reiser debate os trade-offs entre confiança e escala e analisa diversos modelos legais e certificações quanto aos requisitos de propósito, governança e divulgação de impacto. No texto, ela destaca ainda a importância de equilibrar a confiança e a escala na promoção do setor de empreendimentos sociais e seu impacto, enfatizando a necessidade de explorar outras formas de ajustar essa balança.
Mas o dilema entre confiança e escala não se restringe às limitações na distribuição de lucros colocados pela pesquisadora. Para definir a identidade jurídica de um empreendimento, seria preciso levar em conta também formatos de adoção e regulação desses negócios. Esse é o debate que propomos a seguir.
HÁ, HOJE, OBRIGATORIEDADE de adoção de identidade jurídica para a regulamentação de negócios de impacto. Todos os casos apresentados na análise de Dana Brakman Reiser são voluntários, incluindo as propostas coordenadas pelo B Lab e pelo Sistema B, respectivamente benefit corporations e sociedades de benefício e interesse coletivo (BICs). Desde 2010, essas identidades já foram aprovadas em mais de 50 jurisdições distintas, incluindo 44 estados americanos e 8 países. Estima-se que mais de 25 mil empresas tenham adotado essa estrutura, incluindo Danone e Patagonia nos EUA.
O panorama, no entanto, pode mudar com uma proposta inovadora apresentada pelo B Lab UK ao Parlamento britânico em abril de 2021. Produto de uma coalizão com mais de mil organizações locais, o texto do Better Business Act (lei da empresa melhor), que se encontra em tramitação, propõe a adoção mandatória de uma identidade jurídica que exija que as companhias cumpram com o propósito de impacto positivo, considerando seus stakeholders na tomada de decisão e usando uma ferramenta independente de medição, gestão e reporte de seu impacto.
A adoção obrigatória de uma identidade jurídica responderia diretamente à questão de escala. Atingir o contexto em torno de uma proposta assim, contudo, é complexo, dependendo de articulação política e do engajamento de múltiplos stakeholders que garantam uma legitimidade rara.
Uma solução alternativa – e que pode ganhar escala com velocidade – são as autorregulamentações de mercado. O Novo Mercado da B3 oferece um bom modelo. Criado em 2000, ele exige que as empresas listadas adotem padrões de governança além dos impostos pela legislação empresarial, o que inclui mais transparência e ao menos 20% de conselheiros independentes, entre outras práticas.
Isso eleva os requisitos das empresas nesse segmento da Bolsa, induzindo uma mudança positiva no comportamento empresarial, a fim de se adequar aos critérios e corresponder às expectativas dos investidores.
O Novo Mercado se consolidou como um segmento de listagem de alto padrão na B3, atraindo empresas com governança corporativa robusta, desempenho financeiro superior e compromisso com a sustentabilidade. As empresas do segmento se beneficiam de maior liquidez das ações, acesso facilitado ao capital internacional e reconhecimento por parte de investidores nacionais e internacionais. O sucesso do Novo Mercado demonstra o crescente interesse por investimentos responsáveis e com impacto positivo.
Em geral, as autorregulamentações têm efeito pedagógico; ao criarem estruturas de incentivos para a implementação de novas práticas, promovem uma mudança de comportamento e a criação de uma nova cultura – que, eventualmente, pode ser tornar uma nova norma social, incidindo nas regras do jogo e inspirando novas leis e políticas públicas.
A certificação empresa B, emitida pelo B Lab e coordenada no país pelo Sistema B Brasil, é um outro bom exemplo nessa direção. Os mais de 8.600 negócios assim certificados no país assumiram um compromisso de gestão e reporte de impacto de suas práticas, colocando no cerne de sua atuação o dever fiduciário dos gestores com o impacto material positivo social e ambiental. Também se comprometeram a considerar as partes interessadas relevantes ao tomarem decisões de curto e longo prazo. Ao definirem a identidade jurídica das benefit corporations e das BICs, o B Lab e o Sistema B criaram uma forma concreta para que as 125 milhões de companhias existem atualmente, de acordo com o Banco Mundial, possam se comportar como empresas B, com propósito, responsabilidade e transparência.
A agenda no Brasil
NO PAÍS, A CRIAÇÃO de uma identidade jurídica para esse novo segmento econômico empresarial é objeto de discussão há, pelo menos, duas décadas. Os que argumentam contra sua definição defendem que a jurisdição brasileira dá autonomia aos administradores para alterar os contratos e estatutos sociais e que a Constituição já estabelece princípios da atividade econômica que tratam de defesa do meio ambiente e da redução de desigualdades sociais e regionais. Além disso, afirmam que temos uma lei empresarial robusta, a Lei das SAs, como é conhecida a lei 6.404/1976.
Nela, dois artigos de fato merecem destaque. O 116 diz que o acionista controlador, que tem um papel e uma força diferenciada no Brasil, deve usar seu poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, tendo deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender. O artigo 154, por sua vez, responsabiliza o administrador quanto a atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa (grifos nossos).
UMA SOLUÇÃO ALTERNATIVA – E QUE
COM
– SÃO AS AUTORREGULAMENTAÇÕES
MERCADO. O NOVO MERCADO DA B3 OFERECE UM BOM MODELO. CRIADO EM 2000, ELE EXIGE QUE AS EMPRESAS LISTADAS ADOTEM
PADRÕES DE GOVERNANÇA ALÉM DOS IM POSTOS PELA LEGISLAÇÃO EMPRESARIAL
Ora, num país que registra mais de 19 milhões de negócios ativos, se esse arcabouço é suficiente, por que ainda avançamos pouco? O debate articulado pelo grupo de advogados de impacto do Sistema B Brasil argumenta que é necessário regular a conduta empresarial a fim de que o arcabouço jurídico e institucional seja funcional e promova uma mudança de práticas, comportamentos e de cultura em larga escala.
Pode soar como sutileza reconhecer jurídica e institucionalmente que mitigação e compensação são importantes, mas insuficientes, e que as empresas devem também gerar impacto material positivo no curso de sua atividade econômica lucrativa. No entanto, em termos estruturais, é uma mudança de paradigma.
Uma proposta nessa direção tramita atualmente no Senado Federal por meio do projeto de lei 3.284/2021. À diferença das propostas analisadas por Dana Brakman Reiser em seu artigo, no Brasil o debate não vê as limitações na distribuição de lucro como forma de construção de confiança. Em vez disso, esta viria do controle social. O PL propõe mudanças estruturais e oferece instrumentos para seu autocumprimento. Ao vincular o dever fiduciário ao impacto positivo, a consideração de stakeholders na decisão e uma maior transparência nas práticas, a identidade jurídica desenhada pelo PL permite que os administradores sejam devidamente monitorados e responsabilizados pelos acionistas e acompanhados por outros stakeholders relevantes, como colaboradores e consumidores.
A discussão dessa proposta está sendo articulada por meio da Estratégia Nacional de Economia de Impacto (Enimpacto), instituída pelo decreto presidencial 11.646/2021, no âmbito do Comitê Nacional. O colegiado é composto por mais de 20 ministérios, outros 5 órgãos da administração pública e mais 25 organizações da sociedade civil.

rumo a uma economia mais inclusiva, equitativa e regenerativa. Entre os objetivos da coalizão, estão a construção de capital social e qualificação desse debate no G20, a incorporação de propostas concretas nos grupos de trabalho e a construção de continuidade para o G20 na África do Sul em 2025 e para COP 30 no Brasil em 2025.
G20, oportunidade singular de escala global
OG20 É UM DOS PRINCIPAIS espaços multilaterais para coordenação global da agenda econômica. Reúne 85% do PIB mundial, dois terços da população global, 75% do comércio internacional e 80% do total das emissões em todo o mundo. Portanto, qualquer mudança sistêmica passa inevitavelmente por esse agrupamento.
O grupo está sob a presidência do Brasil até o final de 2024, e a agenda proposta pelo país e encaminhada pelo embaixador Mauricio Lyrio, apontado como condutor das negociações, se centra no desenvolvimento sustentável.
Diante dessa oportunidade de incidência, a empresa B brasileira Din4mo orquestrou o G20 pelo Impacto, uma coalizão global que reúne mais de 40 organizações nacionais e internacionais, com a finalidade de fazer propostas concretas para acelerar a transição
O Sistema B e B Lab são integrantes da coalizão e entregaram ao grupo de trabalho de finanças sustentáveis do G20 uma proposta que recomenda a criação das benefit corporations em todas as 21 maiores economias do mundo. Isso permitiria abordar diretamente a questão de uma identidade jurídica para empresas com impacto positivo em escala global.
Criar uma identificação legal para esse novo segmento econômico, como propõe o Sistema B Brasil nos âmbitos da Enimpacto, usando a presidência do Brasil no G20 como uma plataforma, pode, assim, promover um novo jeito de pensar e de agir para que tenhamos empresas melhores para o mundo. O
MARCEL FUKAYAMA é administrador de empresas, com MBA e mestrado em administração pública pela London School of Economics. Cofundador da Din4mo e do Sistema B Brasil, é coordenador do G20 pelo Impacto, senior policy advisor do B Lab, membro do comitê da Enimpacto e membro do Conselhão da Presidência da República.


Projetos colaborativos volta e meia têm dificuldade para tirar do papel o desejo de fazer o bem.
Criamos o processo do benefício mínimo viável para ajudar grupos a definir sua pauta, entrar em ação e avançar na direção certa
Ilustrações de Juan Bernabeu
SOMOS UMA EQUIPE DE DOCENTES da Universidade de Minnesota com experiência profissional e acadêmica nos setores privado, público e não governamental em direito, relações públicas e estratégia empresarial. Nos últimos oito anos, trabalhamos de perto com profissionais em início e meio de carreira, em diferentes setores, interessados em promover mudanças positivas na sociedade. Além de estudar e orientar projetos para conceber e sustentar iniciativas intersetoriais, criamos e ministramos disciplinas de pós-graduação e de educação executiva sobre as possibilidades e os desafios de iniciativas do gênero.
Por que publicamos este texto
O artigo propõe um passo a passo, calcado na teoria e testado na prática, para coletivos multidisciplinares conhecerem suas capacidades e estabelecerem metas que possam alcançar com elas. O texto justifica e ilustra as etapas do processo com exemplos claros. O método é adaptável, ao valorizar e estimular a compreensão do contexto local.
Vimos quão difícil pode ser para iniciativas colaborativas transformarem o desejo de fazer o bem em um plano viável para gerar impacto. Em resposta a isso, criamos um processo para a definição da pauta de iniciativas intersetoriais. Como startups, essas iniciativas trabalham com recursos limitados e hipóteses ainda não testadas. A rota proposta pela metodologia Lean Startup para o lançamento de produtos leva em conta essas limitações, priorizando a agilidade e a economia na introdução de produtos para testar e ajustar o modelo de negócios com base no feedback de clientes.1 Experimentos que permitem a uma startup obter feedback sobre o produto com recursos limitados são chamados de “produtos minimamente viáveis”, ou MVP (do inglês minimum viable product). Nosso processo de definição da pauta de iniciativas intersetoriais segue uma abordagem de experimentação estruturada semelhante.2 Ele se organiza em torno da definição de um benefício mínimo viável (MVB, ou minimum viable benefit): uma contribuição tangível, que os envolvidos possam colocar em prática e avaliar. A informação gerada pelo MVB ajuda a decidir entre prosseguir e expandir a iniciativa, mudar seu rumo ou interrompê-la. O Processo MVB permite, portanto, definir uma agenda mesmo diante da incerteza e de recursos limitados. Ele oferece a dupla vantagem de impulsionar iniciativas intersetoriais promissoras e de desenvolver a capacidade de liderança colaborativa e contatos para integrantes do grupo, contribuindo para elevar a capacidade da comunidade para futuras ações.
O Processo MVB permitiu que um grupo de trabalho em St. Cloud, Minnesota, determinasse a melhor maneira de preencher vagas de emprego na região. O grupo, com profissionais nas áreas de marketing e comunicação, desenvolvimento comunitário, direitos humanos, educação, bancos e construção civil, foi formado entre o fim de 2019 e o início de 2020, antes das medidas restritivas impostas pela pandemia de covid-19. Ele partiu da percepção de que havia, na região, muitas vagas de nível médio não preenchidas – em geral, postos que exigiam mais do que o ensino médio, mas não formação universitária. Sua ideia era casar essas vagas com trabalhadores da região em busca de oportunidades de ascensão, contribuindo para o crescimento econômico e para a inclusão na região.
Pedimos ao grupo que começasse por dizer quem eram seus integrantes, em termos de qualificação, formação, experiência de vida e conexões, para formar uma visão clara dos recursos disponíveis para o trabalho. Em seguida, apresentamos o grupo a estudantes de pós-graduação que poderiam ajudar a avaliar dados demográficos, de emprego e de participação da força de trabalho para identificar setores com vagas abertas e populações locais eventualmente disponíveis para preenchê-las. A análise concluiu que havia um número relativamente grande de vagas na construção civil e duas populações locais – imigrantes da Somália e militares voltando à vida civil – possivelmente qualificadas para ocupar esses postos. Novas análises mostraram que o índice de desemprego e de subemprego era maior na comunidade somali, a qual dependia mais da comunicação verbal (e menos da internet) para conseguir informações sobre vagas. Isso tudo sugeria que a pauta deveria se estruturar em torno de estratégias de recrutamento presencial para a construção civil na comunidade somali local – uma iniciativa que, se bem-sucedida, poderia servir de modelo para outras campanhas de recrutamento.
Antes que o grupo pudesse lapidar essa estratégia, a pandemia se instalou, frustrando a ideia da comunicação pessoal. Apesar desse contratempo, o grupo estava satisfeito com o que tinha descoberto. Segundo um membro do grupo, o processo permitiu identificar novos parceiros e novos métodos de contratação. “Isso me deu novo olhar para práticas rotineiras e me fez notar que pequenos passos colaborativos podem ajudar a comunidade a melhorar. Levei essas lições a meu trabalho atual junto a distintas organizações para aprimorar a infraestrutura do cuidado à criança em nossa região.” A participação no Processo MVB ajudou o grupo a sair da fase de definição da agenda e a adquirir confiança em sua capacidade de contribuir para a vida econômica e social da região.
iDENTIFICAMOS QUATRO OBSTÁCULOS recorrentes enfrentados por grupos colaborativos na hora de definir a pauta de iniciativas de engajamento cívico.
O primeiro é a complexidade do desafio social que o grupo se propõe a abordar. Tanto organizações como indivíduos podem se ver paralisados diante da complexidade do problema a enfrentar e penar para achar um ponto de partida do qual conceber a agenda para uma eventual intervenção. Pensemos, por exemplo, no impacto da dependência de opioides em comunidades rurais nos Estados Unidos. O problema afeta não só o dependente e seu círculo mais próximo, mas também empregadores, organizações de saúde, o Poder Judiciário e o sistema prisional. A crise tem inúmeras causas sociais e econômicas e gera uma série de problemas interligados. Tanto organizações como indivíduos podem se ver paralisados diante da complexidade de problemas assim e penar para achar um ponto de partida do qual conceber a agenda para uma eventual intervenção. Chamamos esse obstáculo de “ficar preso no atoleiro”.
Um segundo obstáculo é quando o colaborativo traça planos de ação ambiciosos demais, que abordam os múltiplos fatores e sistemas por trás de um problema, mas que excedem sua capacidade de execução. O sucesso do grupo pode ser limitado por fatores como tempo, conhecimento, capacidade de coleta de dados e disponibilidade de colaboradores, além de financiamento e autoridade.
Vimos como esse tipo de limitação atrapalhou um grupo que buscava promover a participação equitativa no Censo americano em 2020. Entre as ideias para ajudar comunidades historicamente sub-representadas, estava a de bancar o deslocamento de recenseadores a certos bairros. O grupo se reuniu várias vezes para determinar o que poderia ser feito. A iniciativa esmoreceu quando seus integrantes perceberam que não tinham nem compreensão do problema, nem tempo para estudar os principais obstáculos ou as iniciativas existentes para superá-los.
Um terceiro obstáculo recorrente é chegar a um consenso quanto à definição do problema e de prioridades para resolvê-lo. O alinhamento pode ser particularmente difícil em iniciativas intersetoriais, que exigem que entes com compromissos, metas e expectativas organizacionais distintas cheguem a um acordo.
Esse desafio impediu o avanço de um grupo de agências governamentais, entidades comunitárias, organizações ambientais, negócios de paisagismo e empresas florestais que se aliaram em 2011
para lidar com a chegada, em Minnesota, da broca-verde-do-freixo, um inseto nativo da Ásia que já dizimou milhões de freixos desde sua descoberta na América do Norte em 2002.
Integrantes divergiam quanto a prioridades. Deviam usar recursos na aplicação de pesticidas para proteger árvores de alto valor em áreas infestadas? Ou controlar a circulação de produtos madeireiros que poderiam introduzir a praga em novas regiões e, assim, proteger zonas ainda não afetadas? Ou derrubar freixos infestados para evitar consequentes danos a bens e pessoas?
Também havia importantes divergências quanto ao cronograma (curto prazo ou longo prazo), escalas geográficas (local ou regional) e abordagens (combater ou aceitar). Na falta de consenso na definição do problema – árvores isoladas ou florestas inteiras, prevenção ou adaptação, otimização da saúde ecológica ou minimização de danos patrimoniais –, foi impossível chegar a um acordo sobre atividades conjuntas, além de monitorar e notificar a disseminação do inseto. Embora tenha gerado dados valiosos para a compreensão da natureza e da escala do problema, a ação do grupo não teve efeito proativo no controle da disseminação da praga.
O quarto obstáculo decorre da falta de processos ou papéis definidos – em outras palavras, da ausência de uma estrutura estabelecida de tomada de decisões – em iniciativas colaborativas, diferentemente do que ocorre em parcerias estabelecidas ou organizações formais. Em alguns dos grupos com os quais trabalhamos havia participantes com experiência prévia em governança ou que
já haviam se relacionado entre si, o que compensava parcialmente essas deficiências e facilitava as decisões. Certos grupos possuem recursos para contratar ou destacar pessoal para governança. Na falta de ao menos um desses atributos, grupos que observamos tinham dificuldade para definir em que se concentrar, que metas perseguir e como avançar.
oPROCESSO MVB AJUDOU um grupo de cinco jovens profissionais a traçar um plano factível para superar esses quatro obstáculos. Eles se conheceram em um curso interdisciplinar de pós-graduação em liderança multissetorial da Universidade de Minnesota no segundo semestre de 2020 e tinham o desejo comum de mitigar o impacto negativo da pandemia na saúde e no bem-estar econômico dos habitantes do estado. O grupo era formado por um fiscal da vigilância sanitária, estudantes de direito especializados em privacidade e imigração, um gestor da fundação filantrópica de uma empresa e um organizador social que trabalhava com direitos de imigrantes.
Embora acreditassem que, com a colaboração, seu impacto poderia ser maior do que se agissem isoladamente, eles a princípio tiveram dificuldade para determinar como abordar de forma significativa aquele imenso desafio. Falando sobre suas habilidades, experiências, expertise e conexões, acabaram chegando a um proble-
O Processo MVB é uma sequência de perguntas interligadas. Esse ciclo depende de uma sequência de perguntas, começando com “Quem somos?”
Quem somos?
O que nosso grupo tem a oferecer?
Ampliar, mudar ou parar?
O que descobrimos e aprendemos?
Devemos abandonar, modificar, reproduzir ou ampliar a iniciativa?
Como implementar o MVB?
Qual é nosso plano para alocação de recursos, estratégias de ação e avaliação de resultados em um ano?
O que é o MVB?
Que contribuição podemos dar para a solução do problema?
Quais são as bases factuais?
O que sabemos sobre essa necessidade? Que lacunas podemos preencher para satisfazê-la?
Por quê?
Que desafio nos motiva?
Onde?
Em que região ou comunidade temos conexões?
O quê?
Para qual necessidade ou oportunidade específicas estamos capacitados?
ma específico no qual se concentrar. Ao identificar os recursos que possuíam, além de apontar aqueles que faltavam, determinaram que estavam em uma posição singular para atuar sobre problemas no abastecimento de carne, decorrentes da rápida disseminação da covid-19 no ambiente fechado dos frigoríficos.
Por abrigar várias das maiores plantas de processamento de carne suína dos Estados Unidos e pela alta concentração de empregos na indústria frigorífica, Minnesota é central para o abastecimento de carne no país. Durante a pandemia, trabalhadores do setor e seu círculo mais íntimo enfrentaram tanto a doença quanto demissões; alguns frigoríficos foram temporariamente fechados. Após analisar o problema e programas correlatos, o grupo descobriu que funcionários batiam ponto mesmo doentes por não entender seu direito a licença remunerada e pelo risco de perder a fonte de renda. O grupo também constatou que muitos hesitavam em relatar o contágio ou a exposição ao vírus por medo de ter de revelar informações sobre familiares em situação ilegal no país. Os frigoríficos precisavam desses trabalhadores – mas nem essas empresas, nem órgãos do governo estadual eram transparentes quanto ao número de infectados e a medidas para proteger o pessoal. Ao utilizar essa informação e seu conhecimento coletivo nas áreas da indústria frigorífica, de leis de imigração e privacidade de dados, organização comunitária e idiomas, o grupo descobriu uma área na qual poderia agir rapidamente: as barreiras enfrentadas por trabalhadores imigrantes de língua espanhola para relatar infecções por covid-19 e acessar serviços do sistema de saúde.
O grupo decidiu criar um aplicativo gratuito destinado a dar a pessoas cuja primeira língua era o espanhol, empregadas no sudoeste do estado, informação sobre seus direitos no local de trabalho, incluindo o de relatar doenças de forma confidencial. O aplicativo era voltado a ONGs que agiam junto a trabalhadores e imigrantes, agências de serviço social e um grande frigorífico. Essa intervenção permitiria que distintos setores cooperassem para informar os empregados e criar mecanismos confidenciais para comunicar infecções, o acesso a serviços e a redução da disseminação da covid. Embora a iniciativa fosse relativamente simples, se desse certo, poderia ser ampliada para uso em outros frigoríficos, em outros idiomas, ou em setores nos quais imigrantes sem domínio do inglês enfrentassem riscos ou barreiras semelhantes. O grupo conseguiu vencer a sensação de impotência diante da magnitude dos efeitos da pandemia ao explorar as próprias capacidades e estudar as necessidades da comunidade até achar uma área na qual pudesse começar com uma intervenção modesta, a fim de testar sua abordagem.
Para avançar rumo a seu objetivo com a ajuda do Processo MVB, o grupo teve de responder a uma sequência de perguntas interligadas, que devem ser consideradas individualmente, na sequência certa. Elas estão detalhadas a seguir e resumidas no quadro que acompanha este artigo.
Quem somos? | Pedimos que o grupo pense de forma crítica sobre sua composição e sua capacitação. Esse exercício exige tempo e a vontade genuína de tirar proveito da oportunidade de trabalhar com indivíduos com perspectivas variadas. Qual a bagagem profissional, cultural, geográfica e setorial do grupo, tanto individual como coletivamente? Que assuntos e lugares são de seu conhecimento? Quais suas preferências em termos de dados e análises, competências e valores? Essa reflexão inicial ajuda os integrantes do grupo a conhecer mais a fundo uns aos outros, o que pode promover a confiança e equalizar o acesso a informações, sobretudo quando alguns membros possuem relacionamentos prévios e outros, não.
Além disso, esse autoexame pode servir para discutir alinhamentos, de competências e de preocupações, que ajudem o grupo a se unir em torno de um MVB. Pode ser útil, também, para revelar recursos que se possam aproveitar e que porventura não tenham sido identificados inicialmente. Por exemplo, incentivamos advogados a explorar não só seu conhecimento jurídico, mas também a formação em resolução de conflitos e sua experiência pessoal. Começando com essa autorreflexão, o grupo evita estabelecer metas excessivamente ambiciosas, pois se vê obrigado a reconhecer suas vantagens e suas limitações.
Por quê? | Pedimos que o grupo aponte o desafio social que pretende enfrentar. A ideia é que essa etapa seja relativamente rápida e direta, ajudando a definir os contornos do desejo comum por trás da iniciativa e a reforçar seu investimento pessoal no esforço coletivo. Recomendamos que essa ação seja o segundo passo no Processo MVB, e não o primeiro, para que nela já se considerem a credibilidade, conexões e conhecimento dos membros, determinados na etapa anterior. Mirar questões sociais maiores sem esse contexto pode aumentar o risco de propor intervenções inviáveis ou ineficazes.
Em 2019, por exemplo, trabalhamos com um grupo de jovens profissionais da administração e do direito cujo interesse era a proteção do meio ambiente, em especial zonas de mata nativa em áreas visadas para atividades de mineração no norte de Minnesota, na zona conhecida como Iron Range, que concentra a extração de minério de ferro nos arredores do Lago Superior. A ideia era criar oportunidades de diversificação econômica que ajudassem a pre-
Para criar uma intervenção útil, o grupo precisa ter tanto o conhecimento dos fatos ligados ao problema quanto de medidas já tomadas para remediá-lo naquele mesmo contexto

servar a natureza. Infelizmente, durante todo o processo de definição da pauta, o grupo se concentrou quase exclusivamente nessa meta maior, sem considerar as próprias limitações. Como eram da área de Twin Cities e conheciam aquela região apenas como turistas, não sabiam o que era viver e trabalhar ali na Iron Range. Por mais que discutissem maneiras de angariar apoio de indivíduos e grupos locais para ajudar empresas locais a conceber negócios ambientalmente sustentáveis, não conseguiram traçar planos objetivos e críveis, pois não conheciam bem os valores, os anseios e os entraves locais. Sem isso, não podiam avançar.
Onde? | Pedimos aos grupos que concentrem sua atuação em um lugar que conheçam bem. Esse conhecimento pode ser de diversos tipos: membros podem ter morado ali, ou seu trabalho ou capaci-
tação profissional podem tê-los qualificado para entender como o desafio (identificado na etapa do “Por quê?”) é sentido localmente. O objetivo desta pergunta, assim como o das anteriores, é focar o grupo em um MVB viável com base naquilo que possa realizar em um lugar e momento específicos. No exemplo do frigorífico, o grupo escolheu uma empresa em particular não só porque era uma empregadora importante para a região, mas também porque os contatos e as habilidades de alguns integrantes poderiam facilitar sua atuação. Um membro do colaborativo, por exemplo, era um organizador comunitário naquele mesmo condado e já tinha um relacionamento com organizações de trabalhadores e de proteção social que poderiam ajudar a informar funcionários sobre o novo aplicativo. Além disso, o frigorífico tinha entre seu pessoal muitos imigrantes da comunidade latino-americana que se comunicavam em espanhol – e o grupo tinha gente fluente nessa língua, que poderia ajudar a traduzir as ferramentas.
O quê? | Orientamos todo grupo a limitar o escopo do desafio social definido no segundo passo. Para isso, é preciso identificar facetas particulares do problema que sejam relevantes para o local escolhido e o impacto pretendido. Se o grande desafio identificado no segundo passo for, por exemplo, a inclusão digital, questões específicas a considerar neste passo podem ser capacitação, acesso a aparelhos e melhorar a qualidade da internet. Essa nova etapa ajuda os colaboradores a canalizar sua motivação maior – localizada no “Por quê?” – para uma ação específica que ajudará a definir o MVB, ao lado da informação reunida nas etapas “Quem?” e “Onde?”.
Quais são as bases factuais? | Como descobriu o grupo do Censo americano, para criar uma intervenção útil, o grupo precisa ter tanto o conhecimento dos fatos ligados ao problema –quem é afetado por ele, como e quando, e o que se sabe sobre suas causas – quanto de medidas já tomadas para remediá-lo naquele mesmo contexto. O ideal é que também analise intervenções que deram certo em outros lugares, a fim de determinar se algum aspecto delas é relevante no contexto em questão. Sem essa base factual ou com suposições não fundamentadas, os grupos devem buscar e assimilar essas informações antes de prosseguir. Caso contrário, podem acabar criando soluções falhas, redundantes ou que ignorem a oportunidade de adaptar um modelo que já deu certo em outro lugar.
Topamos com essa dificuldade em 2022, quando trabalhamos com outro grupo de St. Cloud interessado no excesso de vagas de
trabalho não preenchidas na região. Esse outro grupo, porém, se concentrava em postos de nível iniciante. No começo do Processo MVB, a hipótese do grupo era que isso ocorria, em grande medida, porque formandos locais deixavam a região ao concluir o curso. Com base nisso, o grupo primeiro se propôs a criar uma série de eventos de networking e mentoria para ajudar os formandos a criar vínculos com a região. Entretanto, ao esmiuçar dados sobre a localização dos formados em instituições de ensino superior locais, o grupo descobriu que a porcentagem dos que permaneciam na região era muito maior do que tinham presumido. Diante dessa evidência, concluíram que sua meta não devia ser a retenção, mas, sim, atrair gente para a região.
O que é o MVB? | Nas etapas anteriores, o Processo MVB prepara o grupo para ser criativo e pragmático quanto ao que é possível. Neste ponto, formula uma hipótese sobre uma intervenção não redundante, condizente com sua capacidade e que aborde o problema escolhido no lugar selecionado – e que, se bem-sucedida, possa até ser reproduzida ou expandida. O grupo está pronto para definir seu MVB: uma versão da intervenção que possa ser testada quanto a ao menos uma das principais premissas de sua hipótese. Por exemplo: um grupo focado no impacto positivo da leitura em voz alta para o rendimento escolar de crianças pode decidir criar uma ferramenta que ajude pais com poucos recursos a encontrar livros facilmente. Por entender que o uso de celulares com o sistema Android é mais comum entre pais em sua comunidade, o grupo talvez resolva criar um aplicativo para Android. O MVB, então, poderia ser uma versão rudimentar do aplicativo – com, digamos, um número limitado de livros, para testar a adesão dos pais a uma ferramenta nessa plataforma. Se a resposta for positiva, o grupo poderia lançar uma segunda versão, para testar grupos etários com mais atividade e gêneros de livros que mais despertam interesse – e que, portanto, estimulariam a leitura em voz alta. Versões futuras do aplicativo levariam em conta essas informações.
Como implementar o MVB? | Sugerimos que o grupo prepare e execute um plano de um ano para lançar seu primeiro MVB. Esse plano deve incluir todas as atividades necessárias para desenvolver, produzir, lançar e obter feedback sobre o MVB. Isso inclui, por exemplo, o engajamento com outros stakeholders e parceiros, a atribuição de responsabilidades a cada membro do grupo, a obtenção e a alocação de recursos, um cronograma e uma estratégia de avaliação para medir o sucesso e assimilar lições.
Ampliar, mudar de rumo ou parar? | Aqui, o grupo deve avaliar o MVB para decidir como prosseguir. Com base no feedback e
nos resultados, há três possibilidades para o colaborativo: desenvolver ainda mais ou ampliar o alcance da intervenção; ajustá-la de acordo com o feedback; ou abandonar a iniciativa, se sua hipótese não se comprovar e se não for possível alterar a intervenção para superar as deficiências. Ainda que o grupo resolva desistir nessa etapa, pedimos que registre o que aprendeu, pois a informação pode ser útil para iniciativas posteriores do mesmo grupo ou de interessados em questões correlatas.
Persistência coletiva amplia capacidade cívica
oMODELO DO MVB aborda obstáculos muito comuns em colaborações intersetoriais eficazes. O processo investe em identificar uma intervenção que o grupo possa realizar, testar e avaliar em um período relativamente curto de tempo. Esse foco pode tornar a atividade intersetorial mais administrável e evitar que o coletivo “fique preso no atoleiro”.
Pode, também, ajudar iniciativas embrionárias a evitar desafios que não sejam capazes de resolver, por falta de tempo, conhecimento, experiência ou recursos. Os passos “Quem?” e “Por quê?” ajudam a criar uma base e um vocabulário comuns para a priorização e a definição do problema. Além disso, o tempo dado à análise da capacitação e da motivação dos membros pode gerar confiança e produzir o alinhamento necessário.
Além disso, o roteiro proposto pelo Processo MVB para a definição de pautas está ao alcance até de grupos sem organização central, experiência em governança ou relacionamentos prévios relevantes.3 Embora nos últimos anos tenham surgido ferramentas, exercícios de diagnóstico e sistemas de classificação para lançar e implementar iniciativas intersetoriais às vezes exigem tempo, pessoal ou recursos de gestão que muitos dos novos líderes e coletivos com os quais trabalhamos não possuem.4 Segundo nossa experiência, esses grupos normalmente precisam de um roteiro com instruções relativamente simples e sequenciais. O Processo MVB dá a esses grupos uma rota a seguir, buscando combater o desânimo e a perda de motivação que podem surgir quando uma iniciativa atola. Quando esse potencial não é explorado, a comunidade sai perdendo.
Apesar de suas vantagens, o Processo MVB não é adequado para todo coletivo. O grupo não vai ter necessidade ou não vai poder segui-lo à risca caso tenha um acordo de financiamento que preveja entregas específicas, ou se trabalhar com modelos claramente aplicáveis, tiver recursos, poder político ou poder econô-
O Processo MVB para a definição de pautas está ao alcance até de grupos sem organização central, experiência em governança ou relacionamentos prévios relevantes
Conceber e lançar um MVB é agir com otimismo. É como dizer assim:
“Com
base no que sabemos, achamos que isso pode funcionar. Até agora, ninguém testou essa
exata abordagem neste lugar, então vamos tentar e ver o que é possível aprender”
mico expressivos, caso tenha trabalhado junto anteriormente em projetos de inovação social, se precisar cumprir requisitos regulatórios ou se já tiver um processo ou uma estrutura confiáveis para a definição de pauta. Além disso, o processo pode impor alguns desafios. Ao adotar um MVB personalizado e limitado para abordar uma questão complexa, o coletivo pode ser criticado por pessoas envolvidas com o mesmo problema por pensar pequeno demais e mirar apenas um aspecto do problema. Se não estiver seguro de si ou de sua pauta, o grupo pode sair da rota.
No entanto, o Processo MVB pode ajudar a resolver um conflito inerente à colaboração intersetorial – o de enfrentar problemas sociais multifacetados, de causas e manifestações complexas, com os recursos finitos de um único coletivo.5 Os passos do processo levam em consideração tanto esse contexto maior quanto as limitações do grupo. Definir um MVB envolve levantar hipóteses sobre como medidas de implementação e avaliação rápidas poderiam contribuir para a meta maior de abordar um desafio social significativo. O processo exige expressamente que o grupo considere se seus esforços iniciais podem ou devem ser adaptados, reproduzidos, expandidos ou descartados. Cada um desses resultados produz lições úteis para gerar conhecimento sobre o que é eficaz ou não em diferentes contextos. Por ser um processo sequencial, o MVB procura ajudar os coletivos a encontrar maneiras mais relevantes a cada passo, para contribuir para uma ação de caráter amplo sem se deixar paralisar decorrente da incapacidade de desmembrar um problema gigantesco em partes administráveis – como no exemplo da praga florestal citado anteriormente. Embora a necessidade de mudar sistemas possa ser um forte motivador, adotá-la como meta pode ser contraproducente, pois exige demais dos envolvidos ou faz com que definam uma agenda inatingível. Além disso, a ênfase na mudança de sistemas pode levar um grupo a ignorar iniciativas potencialmente eficazes que envolveriam um melhor uso de um sistema existente – seja pela sua modificação, incrementação ou ampliação.6 O Processo MVB ajuda grupos colaborativos a se concentrar em problemas tratáveis, para os quais possam criar, testar, adaptar e expandir soluções.
O modelo do MVB é uma estratégia para quem quer persistir no desafio de trabalhar em colaboração para promover mudanças sociais positivas. Conceber e lançar um MVB é agir com otimismo. É como dizer assim: “Com base no que sabemos, achamos que isso pode funcionar. Até agora, ninguém testou essa exata abordagem neste lugar, então vamos tentar e ver o que é possível aprender”. Incentivamos todo grupo a pensar em seu MVB inicial como
o primeiro elo de uma cadeia à qual o mesmo grupo ou outros, comprometidos com a iniciativa maior, possam adicionar novos elos – um MVB 2.0 ou 3.0, por exemplo. Independentemente do resultado final, todo MVB acaba gerando recursos – informações melhores, uma definição mais clara do problema, vitórias parciais – que podem reforçar iniciativas subsequentes. A inovação social requer essa persistência colaborativa. O
VANESSA LAIRD é pesquisadora sênior do Centro para Liderança Integrativa da Universidade de Minnesota. Advogada, já atuou nas áreas do direito da saúde e do direito internacional.
KATHY QUICK é professora associada de administração pública e planejamento urbano na Humphrey School of Public Affairs e codiretora acadêmica do Centro para Liderança Integrativa da Universidade de Minnesota.
J. MYLES SHAVER é professor de gestão estratégica e empreendedorismo e titular da cátedra Curtis L. Carlson de Estratégia Corporativa da Carlson School of Management, além de codiretor acadêmico do Centro para Liderança Integrativa da Universidade de Minnesota.
NOTAS
1 Ver Steven Blank, Why the Lean Start-Up Changes Everything, Harvard Business Review, May 2013; Thomas Eisenmann, Eric Ries e Sarah Dillard em “HypothesisDriven Entrepreneurship: The Lean Startup”, Harvard Business School Background Note 812-095, December 2011 (atualizada em julho de 2013).
2 Outras formas de aplicar o conceito do MVP a iniciativas de colaboração intersetorial incluem a abordagem voltada a consórcios (Minimal Viable Consortia) promovida pelo colaborativo The Stakeholder Alignment Collaborative, When Launching a Collaboration, Keep It Agile, Stanford Social Innovation Review, Spring 2022; e o voltado a atividades (Minimum Viable Actions), recomendado por Eva Flavia Martínez Orbegozo et al., Entry Points: Gaining Momentum in Early-Stage Cross-Boundary Collaborations, Journal of Applied Behavioral Science, vol. 58, no 4, 2022.
3 John Kania e Mark Kramer, em Impacto coletivo [disponível na seção Biblioteca Essencial do site da SSIR Brasil], e vários outros depois deles, identificaram que uma característica central de iniciativas bem-sucedidas nesse âmbito era a presença de uma espécie de núcleo operacional, que chamaram de backbone organization [traduzido, no artigo em português, como “organizações de apoio centralizado”].
4 Ver, por exemplo, ferramentas propostas pelo Intersector Project para a colaboração intersetorial, em https://intersector.com/toolkit/; exercícios de diagnóstico sugeridos por Jorritt de Jong et al. em Building Cities’ Collaborative Muscle, Stanford Social Innovation Review, Spring 2021; e a definição de “pontos de entrada” proposta por Orbegozo et al. em Entry Points: Gaining Momentum in Early-Stage Cross-Boundary Collaborations
5 Zhia Khan e Kippy Joseph, em Embracing the Paradoxes of Innovation, Stanford Social Innovation Review, Summer 2013, apresentam uma série de situações contraditórias comumente encontradas em iniciativas de inovação para enfrentar problemas sociais, com ênfase na dificuldade de ampliação de pequenas intervenções. Acrescentamos, a esse desafio, o conflito enfrentado por novos grupos na hora de definir como começar a abordar, com intervenções limitadas, problemas de grande envergadura.
6 Kevin Starr, We’re Beating Systems Change to Death, Stanford Social Innovation Review, Spring 2021.
AO LONGO DE DÉCADAS, A COMUNIDADE MÉDICO-CIENTÍFICA
SE DIVIDIU QUANTO AO TRATAMENTO DA DOENÇA DE LYME.
NEGLIGENCIADOS, OS PACIENTES APRENDERAM
A ADVOGAR POR SI MESMOS. A CAUSA LEVOU À CRIAÇÃO DE UMA
ESTRATÉGIA NACIONAL CONTRA DOENÇAS
TRANSMITIDAS POR VETORES
BERNADETTE CLAVIER
NO VERÃO DE 1975 , um grupo de mães em Connecticut notificou as autoridades de saúde pública a respeito de vários casos de crianças com sintomas semelhantes aos de artrite reumatoide. Rastreando os casos em colaboração com Allen Steere, um jovem reumatologista da Escola de Medicina da Universidade Yale, chegaram até parques e jardins onde havia carrapatos, que presumiram terem transmitido aquela nova infecção. Em 1976, ela foi batizada de doença de Lyme, em referência à cidadezinha onde se observaram os primeiros casos. Em 1981, o cientista Willy Burgdorfer identificou o patógeno: uma bactéria espiroqueta que viria a ser nomeada Borrelia burgdorferi.
Por que publicamos este texto
A doença de Lyme é pouco conhecida no Brasil, mas a história de como os afetados por ela se uniram para exigir investimento em pesquisa e tratamento é útil a qualquer causa semelhante. Sua estratégia de mobilização pode inspirar ações para grupos ligados, por exemplo, a arboviroses. Além disso, o texto é didático quanto ao quadro geral das doenças crônicas associadas a infecções.
 TUBOS DE ENSAIO COM EXEMPLARES DE IXODES SCAPULARIS , CARRAPATO QUE TRANSMITE O PATÓGENO DA DOENÇA DE LYME, NOVEMBRO DE 2014
TUBOS DE ENSAIO COM EXEMPLARES DE IXODES SCAPULARIS , CARRAPATO QUE TRANSMITE O PATÓGENO DA DOENÇA DE LYME, NOVEMBRO DE 2014
A rápida identificação do patógeno deu esperanças de que a descoberta de ferramentas diagnósticas e terapias de cura seria iminente. No entanto, 50 anos depois, a doença de Lyme infecta cerca de meio milhão de americanos ao ano e ainda não há uma maneira fácil de diagnosticar, muito menos de curar, os pacientes. Nos Estados Unidos, 82% de todos os casos de doenças transmitidas por carrapatos são Lyme, que correspondem também a 77% de todas as infecções por vetores (aquelas transmitidas por insetos ou parasitas que se alimentam de sangue) no país. Os sintomas afetam vários sistemas no corpo, podem ser facilmente confundidos com os de outras condições e, muitas vezes, são debilitantes. Dependendo da localização da infecção, os pacientes podem sofrer de sintomas como fadiga extrema; desafios cognitivos, como névoa cerebral e déficits de memória; problemas graves de saúde mental, como ataques de pânico e pensamentos suicidas; problemas neurológicos; dor articular intensa; e inflamação cardíaca.
Em janeiro de 2024, o Departamento de Saúde e Bem-Estar (HHS) publicou a primeira estratégia nacional americana para enfrentar a ameaça global de doenças transmitidas por vetores. A iniciativa foi um marco, pois identificou as necessidades da comunidade de pacientes, além de ser um guia para orientar a alocação de recursos destinados a pesquisa científica. Em um mundo ideal, no entanto, o reconhecimento pelo governo da gravidade que a ameaça das doenças transmitidas por vetores representa à saúde pública deveria ter acontecido décadas antes.
Como alguém cuja vida foi interrompida pela doença de Lyme, experimentei a resposta lenta e desorganizada da sociedade a essa e a outras doenças crônicas complexas. Ao mesmo tempo, tive a oportunidade de testemunhar o trabalho de pessoas comprometidas pela melhora da vida dos pacientes. Hoje uso minha perspectiva como educadora para contribuir com abordagens inovadoras para problemas sociais complexos e, muitas vezes, intratáveis. O objetivo é aprender com os esforços comunitários anteriores, entendendo os seus acertos e as lacunas remanescentes, a fim de iluminar o caminho.
Neste texto, examino as razões pelas quais tanto a comunidade científica quanto o governo perderam o ímpeto inicial de encontrar soluções eficazes contra a doença de Lyme. Relato como um grupo de indivíduos lançou um movimento de inovação e mobilizou o governo a criar uma abordagem contra doenças transmitidas por vetores. A doença de Lyme é apenas um exemplo do problema maior de saúde pública, o das doenças crônicas complexas associadas à infecção. Então concluo destacando a oportunidade de expandir o raciocínio e unir forças para combater diferentes problemas de longa duração.
QUANDO OS CASOS DE LYME SURGIRAM EM Connecticut, a medicina baseada em evidências e o escopo da biomedicina se ampliavam no mundo todo, codificando distúrbios biológicos e padronizando o atendimento. Mas o esforço científico não foi páreo para as infecções transmitidas por carrapatos, cuja vasta gama de patógenos gera afecções complexas, com múltiplos estágios agindo sobre diferentes sistemas.
A Borrelia é uma bactéria complexa em termos evolutivos, com faculdades sofisticadas que se aproveitam da biologia de hospedeiros mamíferos sucessivos. As intrincadas interações patógeno-hospedeiro são difíceis de reproduzir in vitro e, portanto, tornam o estudo da bactéria desafiador. Sua disseminação é facilitada por fatores macroambientais – das mudanças climáticas ao desmatamento e outras práticas de manejo da terra – que perturbam os ecossistemas naturais, propiciando a expansão geográfica dos animais hospedeiros.
Havia um consenso entre os cientistas de que o primeiro estágio da infecção por Lyme era de natureza bacteriana. No entanto, eles se dividiram acerca das explicações sobre as etapas subsequentes da doença. Na década de 2000, a comunidade médico-científica estabeleceu dois modelos distintos para a enfermidade em estágio avançado: a síndrome de Lyme pós-tratamento (PTLDS) e a doença de Lyme crônica. Os dois modelos divergem quanto ao segundo estágio, o que explica a sintomatologia de alguns pacientes tratados com antibióticos na infecção inicial. A diferença reside em hipóteses opostas sobre se a Borrelia pode ou não persistir em humanos após o tratamento com antibióticos. O modelo PTLDS diz que não pode, enquanto o modelo crônico de Lyme diz que sim. Em vista da permanência dos sintomas, a maioria dos defensores dos pacientes apoiou a hipótese da doença de Lyme crônica.
Cada uma das perspectivas tem uma visão quanto ao uso de antibióticos. Em 2000, 2006 e 2020, a IDSA (Sociedade Americana de Doenças Infecciosas, na sigla em inglês) publicou diretrizes recomendando um curso curto e único de doxiciclina, um antibiótico de amplo espectro. Para isso, se baseou em estudos científicos que concluíram que este eliminaria a Borrelia, levando a IDSA a classificar o estágio avançado de Lyme como uma doença clinicamente inexplicável, sem marcadores biológicos mensuráveis.
Por outro lado, a Ilads (sigla em inglês para Sociedade Internacional de Lyme e Doenças Associadas), criada em 1999 para fornecer orientação científica aos médicos que atendem os casos mais difíceis da doença de Lyme, recomendou, em 2004 e em 2014, tratar a doença de Lyme com um curso mais longo de quatro a seis semanas de doxiciclina, amoxicilina ou cefuroxima. As diretrizes da Ilads também orientam a reavaliar os pacientes após o tratamento inicial e, quando necessário, estendê-lo. Essas diretrizes se baseiam em estudos que identificaram a presença da bactéria em animais após o tratamento com antibióticos, conferindo legitimidade à teoria da infecção persistente. Os membros da Ilads, então, fizeram experiências com combinações de antibióticos e mantendo o tratamento enquanto os sintomas persistem.
Os riscos eram altos não só para os pacientes, mas também para a credibilidade e reputação dos profissionais que ousaram fazer recomendações ou tomar decisões de tratamento sem conhecimento científico definitivo. Por mais de 30 anos, os dois lados se envolveram no que os médicos Raphael B. Stricker e Andrew Lautin chamaram “Guerras da Lyme”, um debate controverso sobre a base biológica e a existência da doença em estágio avançado. A hostilidade enraizada entre os dois campos semeou tanto a desconfiança na ciência quanto a confusão entre os pacientes que estavam desesperados por respostas. Os líderes dessas organizações desempenharam um papel no fomento dessa
desconfiança. Em 2017, Brian Fallon, diretor do Centro de Pesquisa de Doenças Transmitidas por Lyme e Carrapatos do Centro Médico da Universidade Columbia, e Jennifer Sotsky, então residente do Centro Médico Irving da mesma instituição, abordaram a questão no livro Conquering Lyme Disease: Science Bridges the Great Divide. A dupla registra que ambas as partes se recusaram a ceder, defendendo absolutos, em vez de reconhecer as áreas de incerteza, selecionando artigos de periódicos favoráveis a sua posição e ignorando os que sugeriam o contrário.
À medida que esse debate improdutivo se desenrolava nos anos 2000, o CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças, na sigla em inglês) adotou uma definição limitada da doença de
recursos destinados por universidades e pela indústria na doença de Lyme permaneceram mínimos, atrasando o desenvolvimento de diagnósticos e terapias para todos os estágios da doença.
 QNATE NIETO, PROFESSOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS NA UNIVERSIDADE DO NORTE DO ARIZONA, COLETA CARRAPATOS EM MARIN COUNTY, NA CALIFÓRNIA, PARA UM ESTUDO DA BAY AREA LYME FOUNDATION, EM 2017
QNATE NIETO, PROFESSOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS NA UNIVERSIDADE DO NORTE DO ARIZONA, COLETA CARRAPATOS EM MARIN COUNTY, NA CALIFÓRNIA, PARA UM ESTUDO DA BAY AREA LYME FOUNDATION, EM 2017
Lyme para fins exclusivos de vigilância. Com isso, os casos foram subestimados, sendo cerca de dez vezes mais numerosos do que os registrados, como um artigo de 2021 admitiu. Duas décadas de subnotificação mascararam a epidemia crescente e justificaram a ausência de disciplinas sobre doenças transmitidas por carrapatos nas escolas médicas, enquanto as barreiras ao atendimento permaneciam extremamente altas. A sensação errônea de baixa prevalência também fez supor que o mercado era pequeno, e os incentivos econômicos, baixos para que se investisse em soluções para a doença. Ao longo das duas primeiras décadas do século 21, os
UANDO O PROGRESSO CIENTÍFICO DA LYME chegou a esse impasse, a comunidade de pacientes sentiu-se abandonada pela classe médica. “Nos anos 2000, a maioria dos grupos comunitários se dedicava a ajudar os pacientes a receber os cuidados necessários”, diz a diretora-executiva da Bay Area Lyme Foundation, Linda Giampa. Comunidades de defensores – principalmente em estados de alta incidência da doença na Costa Leste – atendiam os pacientes por meio de grupos de apoio e programas de prevenção. Alguns também solicitaram aos deputados em seus estados, com sucesso, que regulassem educação e proteção legal para médicos que se dispusessem a tratar casos de Lyme em estágio avançado. No entanto, os pacientes continuaram a padecer a dor física e o ônus financeiro devido a tratamentos inadequados e caros não cobertos pelos planos de saúde. Por vezes, seu desespero serviu para alimentar a crise preexistente entre os dois campos de compreensão da doença. Isso causou estigmatização e ostracismo, afetando de forma grave seu acesso aos cuidados.
A divisão entre pacientes e profissionais foi superada em meados da década de 2010, quando membros respeitados da comunidade médico-científica contraíram Lyme. Entre esses pacientes, estavam Neil Spector, oncologista e pesquisador; Steven Phillips, investigador-chefe da Kyronyx Biosciences e especialista em infecções zoonóticas; Alan McDonald, patologista; e Richard Horowitz, médico, membro-fundador e ex-presidente da Ilads. Ao unir compreensão teórica e experiência, eles deram contribuições fundamentais para nossa compreensão da patologia de Lyme. Quando suas respectivas formações, ancoradas no modelo que negava a persistência, não foram eficientes para lhes devolver o pleno bem-estar, passaram a reconhecer os méritos de ambas as visões da doença. Abrindo-se à possibilidade de persistência, vislumbraram um quadro muito mais complexo, explicando a diversidade dos patógenos e as múltiplas vias possíveis da infecção.
Amparados nesses novos aliados, os defensores dos pacientes redobraram seus esforços com esperança e mentalidade renovadas. Logo notaram que era preciso um esforço nacional coordenado que
se valesse de infraestruturas e recursos federais para enfrentar, com método e estratégia, a ameaça de doenças transmitidas por carrapatos. Em particular, não existia, em todo o país, um grupo de cientistas dedicado a essas enfermidades.
“Precisávamos desesperadamente trazer cientistas e novas perspectivas para nosso campo, a fim de desenvolver um diagnóstico preciso”, diz Giampa. “Para isso, tivemos que remover as barreiras à pesquisa.”
Como o financiamento dos Institutos Nacionais de Saúde (NIH, na sigla em inglês) para a doença de Lyme era escasso, a Bay Area Lyme Foundation e a Fundação Steven e Alexandra Cohen intervieram com financiamento privado. Na última década, eles aportaram à causa mais de US$ 100 milhões. Em 2014, a Bay Area Lyme Foundation lançou o Prêmio Emerging Leader para direcionar parte desse financiamento a pesquisadores, fornecendo um incentivo financeiro para instituir novos laboratórios. Além de abordar a lacuna de financiamento, as fundações colaboraram para construir o Lyme Disease Biobank, um repositório de sangue, urina e tecido humano que permite aos cientistas acessar facilmente as amostras de que precisam para seus experimentos.
Em 2015, a Bay Area Lyme Foundation criou a Lyme Innovation, uma iniciativa multissetorial para inventariar lacunas de conhecimento, estabelecer prioridades e implantar incentivos financeiros para atrair inovadores interessados em resolver os problemas mais consequentes da doença de Lyme. Essa iniciativa foi conduzida por Kristen Honey, pesquisadora do Robinson Lab da Universidade Stanford, chefiado pelo imunologista e reumatologista William H. Robinson, e por Nevena Zubcevik, cofundadora do Dean Center for Tick Borne Illness, localizado no Hospital de Reabilitação Spaulding, da Faculdade de Medicina de Harvard.
Affairs Center for Innovation to Implementation. Eles também abraçaram um grupo variado de voluntários universitários e pacientes afetados pela doença de Lyme, cujo apoio foi bancado pelo programa de bolsas da Associação Americana para o Progresso da Ciência e Tecnologia.
Entre 2016 e 2017, a Lyme Innovation conduziu uma espécie de hackathon em parceria com organizações acadêmicas e sem fins lucrativos em ambas as costas do país, a fim de atrair e capacitar solucionadores de problemas acadêmicos e profissionais cujas habilidades ainda não estivessem voltadas para problemas com a doença de Lyme.

MULHER FAZ DOAÇÃO A BANCO DE AMOSTRAS PARA ESTUDO DA DOENÇA DE LYME EM SAN DIEGO, MARÇO DE 2020
O grupo queria ir além das Guerras da Lyme, a fim de revolucionar o escopo e a natureza da pesquisa da doença, com abertura para considerar todas as hipóteses científicas. “O campo estava preso em uma falsa dicotomia”, diz Zubcevik. “Ambos os modelos ofereciam peças únicas para um quebra-cabeça complexo. O momento era propício para uma intervenção que impulsionasse as pesquisas para além do debate sobre a persistência da doença e trouxesse soluções muito necessárias para os pacientes.”
Organizando-se em torno de objetivos compartilhados, os sócios-fundadores da Lyme Innovation incluíram organizações respeitáveis, como o Dean Center for Tick Borne Illness, a Bay Area Lyme Foundation, o MIT Hacking Medicine e o Veterans
“Eu vim das ciências ambientais e ficou claro para mim que pessoas de fora da comunidade médica – fossem pacientes ou líderes da indústria – tinham um olhar novo a emprestar para a área”, diz Honey. Os eventos do hackathon permitiram o compartilhamento tanto de insights de cientistas como de aprendizados vindos dos afetados pela doença. “Operamos de forma aberta e com uma abordagem centrada no usuário. Aqueles com vivência da doença trabalharam lado a lado e de igual para igual, com médicos, cientistas e tomadores de decisão em discussões científicas e políticas.”
Esse processo impulsionado pela comunidade trouxe novos pesquisadores para o campo e resultou em mais de duas dúzias
de novos projetos e iniciativas de pesquisa relacionados a Lyme. Entre eles estavam o G-Dot, que explorou a possibilidade de que uma droga terapêutica, então sendo testada para câncer, pudesse bloquear a recombinação de DNA da Borrelia; o LymeDot, um sistema de rastreamento para registro de sintomas pelos pacientes; e a CrisisText Lyme, plataforma que combateu o isolamento, a depressão e os sentimentos suicidas entre os pacientes, fornecendo uma linha de apoio baseada em texto.
O movimento serviu como lócus informal de coordenação para a comunidade de Lyme até 2018. Com a Bay Area Lyme Foundation como organizadora e patrocinadora, os defensores dos pacientes se reuniram em mesas-redondas para desenvolver a compreensão das etapas necessárias a fim de avançar na detecção e no tratamento da doença. As organizações contribuíram com novos programas para uma grande estratégia voltada para as prioridades do movimento.
Hoje, a LymeDisease.org lidera campanhas nacionais de prevenção para desacelerar o ritmo da epidemia de doenças transmitidas por carrapatos, aumentando a conscientização sobre os riscos associados às atividades ao ar livre. Ela também mantém o MyLymeData, um esforço de pesquisa liderado por pacientes que documentam suas experiências. Outras organizações na linha de frente incluem a Lyme Disease Association, que opera um banco de dados de encaminhamento médico e defende uma legislação que promova a pesquisa científica; a Fundação LymeLight, que fornece apoio financeiro para pacientes sem cobertura de seguro de saúde; o Center for Lyme Action, que educa membros do Congresso americano sobre a urgência de aumentar os recursos para a prevenção e pesquisa da doença; a Invisible International, que cria módulos de educação médica continuada com base em evidências; e as fundações Bay Area Lyme e Steven e Alexandra Cohen, que financiam pesquisas científicas para facilitar o diagnóstico e cura da doença.
Construção de infraestrutura governamental
ARELAÇÃO ENTRE O GOVERNO e a comunidade de pacientes com Lyme era tensa porque os interesses dos pacientes estavam em desacordo com a agenda de saúde pública do HHS. De fato, em 2015, o CDC publicou um plano de ação nacional para o combate a bactérias resistentes a antibióticos, que buscava melhorar a administração de antibióticos em ambientes de cuidados de saúde, mas conflitava com o anseio da comunidade por tratamentos mais longos com antibióticos. Mais importante, os defen-
sores dos pacientes se ressentiam da influência descomunal que o establishment médico convencional – do qual discordavam –exercia sobre a administração. Os membros da IDSA trabalharam fortemente nos comitês de revisão de subsídios científicos dos NIH e frustraram as propostas de pesquisa que buscavam financiamento para explorar hipóteses alternativas. Em 2012, Stephen Barthold, professor de patologia médica na Escola de Medicina Veterinária da Universidade da Califórnia em Davis e diretor do Centro de Medicina Comparada da instituição, testemunhou perante um comitê parlamentar sobre a dificuldade para solicitar financiamento dos NIH para seu trabalho sobre a persistência da Borrelia em animais. Para o pleno potencial de pesquisa sobre a doença de Lyme, era extremamente necessário que houvesse pontos de vista mais diversos no processo de revisão por pares para subsídios públicos.
Em um esforço de advocay que durou uma década, a partir de meados dos anos 2000, várias organizações sem fins lucrativos lideradas pela LymeDisease.org trabalharam com o Congresso para estabelecer um comitê consultivo equilibrado que pudesse orientar a criação de um programa federal contra a epidemia crescente. O esforço culminou, em dezembro de 2016, com a aprovação da Lei de Curas do Século 21, que determinou que o HHS estabelecesse um grupo de trabalho sobre doenças do carrapato, a fim de avaliar esforços de pesquisa relacionados a essas enfermidades. Wendy Adams, diretora de bolsas de pesquisa da Bay Area Lyme Foundation e membro do grupo de 2017 a 2020, diz que a cada dois anos eles forneciam ao Congresso e ao secretário do HHS “um relatório objetivo” sobre a questão, a prevalência, o estado do conhecimento científico sobre ela, além de fazer recomendações sobre as prioridades de alocação de recursos.
O estatuto de fundação do grupo de trabalho determinou a diversidade de pensamento entre seus integrantes de dentro e fora do governo para superar, de forma deliberada, a divisão entre as partes interessadas. “Os debates sobre Lyme ainda estavam acirrados, e nossa credibilidade dependia da inclusão de funcionários públicos, médicos, cientistas e pacientes com perspectivas diferentes”, diz Adams. Vários membros do movimento Lyme Innovation juntaram-se ao grupo de trabalho. Ainda que quase 50 anos depois da primeira onda da doença, pela primeira vez a comunidade teve voz, em nível nacional, e meios para aceder a mais recursos.
O grupo de trabalho enfrentou divisões fundamentais. A questão mais importante e controversa continuou a ser a da persistência – em outras palavras, se a versão crônica da Lyme existe. O grupo reconheceu que uma porcentagem significativa de pacientes, tratados ou não, apresenta sintomas duradouros.
SOB A INFLUÊNCIA CONTÍNUA DE ESTRESSORES PATOLÓGICOS, AMBIENTAIS E PSICOLÓGICOS, NOSSA RESPOSTA IMUNE PODE FICAR SOBRECARREGADA E PRODUZIR SINTOMAS INFLAMATÓRIOS NOCIVOS QUE SÃO COMUNS A MUITAS DOENÇAS CRÔNICAS.
NOSSOS DESCENDENTES PROVAVELMENTE HERDARÃO TAMBÉM A EXPRESSÃO INFLAMATÓRIA DE NOSSOS GENES
“A ausência de meios definitivos para determinar se os organismos causadores ainda estão presentes nesses pacientes tornou impossível entender esses sintomas”, explica Sam Donta, membro da IDSA e participante do grupo de trabalho. Portanto, em seu relatório de 2020, o subgrupo clínico que Donta presidiu solicitou que o Congresso destinasse financiamento para melhorar o entendimento da fisiopatologia da doença, para a detecção direta de organismos persistentes ou seus produtos e para desenvolver regimes de tratamento contra a doença persistente.
O Congresso aumentou as dotações do HHS para pesquisa sobre doenças transmitidas por carrapatos de US$ 34 milhões em 2020 para US$ 81 milhões em 2021 e, em seguida, para US$ 114 milhões em 2022. Apesar desses aumentos, o estudo da doença de Lyme continua subfinanciado (US$ 82 por paciente) em comparação com outras doenças infecciosas de menor prevalência nos Estados Unidos, como o vírus do Nilo Ocidental (US$ 6.870 por paciente) ou a malária (US$ 150.500 por paciente).
O grupo de trabalho preparou o terreno para uma nova era na pesquisa de Lyme que superasse a divisão sobre a persistência. O HHS a abriu com um processo experimental de alocação de subsídios, projetado especificamente para expandir a exploração científica concentrando recursos nas necessidades principais. Em 2018, o HHS lançou a HHS Lyme Innovation Initiative, incorporando e ampliando o bem-sucedido modelo da comunidade. Honey, a primeira a chefiar a HHS Lyme Innovation, coordenou todas as entidades governamentais e continua a convocar os stakeholders afetados.
Em outubro de 2020, a HHS Lyme Innovation lançou o programa de aceleração LymeX, dotado de US$ 25 milhões, em parceria com a Fundação Steven e Alexandra Cohen para ampliar os hackathons. Maior doador privado para a pesquisa de Lyme nos Estados Unidos, a fundação financiou a infraestrutura necessária para continuar a refinar as prioridades de inovação em colaboração com os stakeholders e incentivar o desenvolvimento de novas soluções nas áreas de educação e diagnóstico de doenças transmitidas por carrapatos.
Para atender à necessidade de diagnósticos eficazes, a LymeX lançou uma competição em 2022 – o Prêmio LymeX Diagnostics –, que distribui até US$ 10 milhões em várias fases, destinado à próxima geração de tecnologias de detecção de infecções ativas da doença em pessoas. Os jurados selecionaram dez equipes vencedoras na primeira fase, as quais puderam dar seguimento a seus projetos em prototipagem, validação de dados e desenvolvimento de protocolos clínicos. A LymeX continuará a apoiar as melhores equipes dentre as primeiras vencedoras, nas fases subsequentes da competição.
Uma causa maior
OTRABALHO DE CRIAÇÃO de infraestruturas de cuidados de saúde responsivas se estende a todas as doenças transmitidas por vetores e a afecções crônicas complexas de forma mais ampla.
O grupo de trabalho estabeleceu-se como a fonte de conhecimento do Congresso sobre doenças transmitidas por carrapatos. Po isso, quando a Lei Kay Hagan, de 2019, deter-
minou que o HHS criasse uma estratégia nacional para doenças transmitidas por vetores, o Escritório do Secretário Adjunto de Saúde (Oash) e o CDC solicitaram a colaboração do grupo de trabalho, ao longo de três anos, resultando na publicação do primeiro documento do tipo, em janeiro de 2024. A estratégia delineia cinco objetivos: compreender a patogênese, refinar as ferramentas diagnósticas, desenvolver tratamentos, fortalecer a prevenção e apoiar a saúde pública. Ela incorpora a contribuição da comunidade ao longo de 19 prioridades estratégicas que o governo federal desenvolveu usando o Marco Nacional de Saúde Pública de 2020 para a prevenção e controle de doenças transmitidas por vetores em humanos. Oferece um reconhecimento notável das doenças transmitidas por vetores como uma ameaça à saúde humana e um roteiro útil para estimular e orquestrar a resposta nacional a essas formas muito específicas de doenças agudas e crônicas.
No entanto, nos quatro anos de gestação da estratégia, a pandemia de covid-19 transformou drasticamente nossa compreensão das doenças crônicas. Hoje, a Lyme em estágio avançado, a encefalomielite miálgica/síndrome da fadiga crônica (ME/CFS), a covid longa e a síndrome da taquicardia ortostática postural (Pots) afetam de 18 milhões a 23 milhões de americanos – um número que aumentou substancialmente devido à pandemia e ainda está crescendo. Os pacientes de Lyme em estágio avançado e de ME/CFS rapidamente reconheceram seus sintomas na lista de queixas relatadas por pacientes de covid longa. As condições das pessoas afetadas por essas condições são semelhantes em sua natureza multissistêmica, fatigante, inespecífica e crônica.
Compreender as características biológicas que essas condições compartilham pode trazer insights importantes para resolvê-las. Um número crescente de estudos demonstra um elo entre doenças crônicas e infecções. A patogênese da doença de Lyme, por exemplo, foi estabelecida como bacteriana, e a da covid longa, como uma infecção viral. Da mesma forma, os sintomas da fibromialgia podem começar após uma variedade de infecções, e os cientistas acreditam que o vírus Epstein-Barr causa alguns casos de ME/CFS, lúpus, esclerose múltipla e muitas outras doenças autoimunes.
O reconhecimento de infecções como agente causal de doenças crônicas resultou no desenvolvimento de entendimentos que vão além da teoria predominante dos germes do século 19, segundo a qual doenças são simples interações entre patógenos e o hospedeiro humano. Essas novas visões enfatizam a variabilidade da resposta humana a infecções e a interação entre o patógeno, o sistema imunológico e o ambiente para explicar por que alguns pacientes superam rapidamente enfermidades, enquanto outros podem desenvolver condições autoimunes, fadiga crônica e dor prolongada. Os novos modelos veem os germes como gatilhos e incorporam a influência de fatores genéticos, sociais e ambientais no cultivo do terreno biológico que informa a resposta imune humana. Longe da certeza diagnóstica e das curas milagrosas, eles incentivam a prevenção e a mitigação de uma série de riscos imunológicos em um momento em que os sinais da doença podem ainda não ser visíveis.
Além disso, independentemente do efeito da infecção sobre a resposta imune, condições crônicas complexas quase sempre envolvem uma falha no gerenciamento do ecossistema de micróbios do corpo humano. Alguns dos agentes infecciosos mais perigosos desenvolveram táticas de evasão imunológica. Uns entram em um
estado dormente que os faz menos vulneráveis ao tratamento; outros desenvolvem colônias atrás de um biofilme impenetrável que lhes permite subverter nossos mecanismos de defesa.
O impacto desses patógenos sofisticados se agrava pelo fato de nosso sistema imunológico não ter evoluído para acompanhar a velocidade das transformações sociais desde a Revolução Industrial. Por exemplo, mudanças repentinas no microbioma humano comprometem sua capacidade de treinar e desenvolver os principais componentes do sistema imune inato e adaptativo. A maior prevalência de doenças crônicas e a concomitante escassez relativa de diversidade de microbiomas no mundo ocidental hoje, em
Além de um microbioma comprometido, o sistema imunológico de hoje precisa lidar com exposições tóxicas desde o nascimento. Um estudo de 2005 do Environmental Working Group conduzido por dois grandes laboratórios (Axys Analytical Services e Flett Research) revelou a presença de 287 produtos químicos industriais no sangue do cordão umbilical de dez recém-nascidos. Pacientes com doenças crônicas costumam fazer exames para verificar e combater os efeitos da presença de metais pesados e pesticidas – substâncias novas, produzidas pelo homem, que não existiam há cem anos e que o sistema imune moderno agora precisa identificar como estranhas e eliminar.

PACIENTES DE DOENÇAS CRÔNICAS COM FREQUÊNCIA PRECISAM INGERIR NUMEROSOS SUPLEMENTOS
comparação com as comunidades contemporâneas de caçadorescoletores, revelam as consequências do estilo de vida ocidental: a dieta americana rica em gordura, a dependência de antibióticos e o uso excessivo de antissépticos perturbaram a flora intestinal, resultando em baixa diversidade e, portanto, em defesas imunológicas mal treinadas. O processamento de alimentos aumentou a permeabilidade intestinal e comprometeu a barreira hematoencefálica, forçando o sistema imune a montar uma resposta aos alimentos parcialmente digeridos que encontram seu caminho para a corrente sanguínea. Esse fenômeno tem sido associado a sensibilidades alimentares, alergias e reações autoimunes.
Sob a influência contínua de estressores patológicos, ambientais e psicológicos, nossa resposta imune pode ficar sobrecarregada e produzir sintomas inflamatórios nocivos que são comuns a muitas doenças crônicas. “Na tentativa de sobreviver a um estressor, nossa resposta pode causar mais danos do que o problema em si”, escreve o médico Isaac Eliaz em seu livro de 2021, The Survival Paradox. Quando o ambiente e o ritmo acelerado nos colocam constantemente em alerta de sobrevivência, as moléculas que governam a legibilidade de nosso DNA se adaptam a essa necessidade de ativação contínua do sistema nervoso simpático. Em outras palavras, embora sejam necessárias várias gerações para que o DNA evolua, leva apenas alguns anos sob certas condições para transformar nossa expressão gênica. Nossos descendentes provavelmente herdarão não apenas nossas deficiências e toxicidades, mas também a expressão inflamatória de nossos genes. A realidade é que a sociedade americana já vive uma mudança epigenética à função imune: condições crônicas afetam 31% dos menores de 18 anos e aproximadamente metade dos jovens adultos de 18 a 34 anos no país. As condições crônicas complexas também são mais frequentes entre mulheres que entre homens. Elas são 58% dos pacientes com Lyme, 85% dos que têm Pots, 80% dos com ME/CFS e 80% dos afetados por todas as condições autoimunes. A ciência estabeleceu várias hipóteses para essa disparidade de gênero. Entre os fatores biológicos, estão respostas imunes diferenciadas a infecções, o papel dos hormônios e do estrogênio na sintomatologia e a função dos feromônios na atração de patógenos. Em termos socioculturais, há a falta de terapias responsivas ao corpo das mulheres, com a maior parte das drogas testadas em humanos e animais do sexo masculino, e a tendência sistêmica, entre médicos, de descartar a dor das mulheres, o que pode impedir diagnósticos rápidos e precisos.
DESDE A PANDEMIA, cresceu a consciência coletiva sobre doenças crônicas complexas associadas a infecções. Cientistas, médicos e pacientes anseiam por ampliar o conhecimento e transformar a infraestrutura para enfrentar essa crise emergente.
A comunidade científica está sintonizada com a realidade compartilhada de doenças de longa duração e vem tentando ativamente entender a biologia subjacente a esses sintomas comuns a várias delas. Em junho de 2023, um workshop que teve a CEO da LymeDisease.org, Lorraine Johnson, entre os organizadores reuniu autoridades de saúde de alto nível, pesquisadores renomados e defensores de pacientes para estudar fatores clínicos e biológicos comuns e sobrepostos entre doenças crônicas associadas a infecções. Eles examinaram os resultados de pesquisas conduzidas por pacientes a respeito da covid longa e da doença de Lyme, bem como as pesquisas acadêmicas mais recentes sobre disfunção imunológica, disfunção autonômica, inflamação cerebral e o papel do microbioma, entre muitas outras. Foi uma oportunidade rara para cientistas e outros profissionais compararem sintomas e levantarem hipóteses para explicar essas doenças.
Dar sentido a condições crônicas complexas exige projetos de pesquisa maiores e mais complexos do que os dedicados a patologias de órgão único. “A pesquisa entre especialidades tornou-se fundamental”, explica Giampa. Estudos que explorem a intercone-
xão e a causalidade entre o que antes se pensava serem condições separadas são particularmente difíceis. Um exemplo é o esforço atual para entender a conexão entre infecções crônicas e doenças neurodegenerativas. Em 2023, o biólogo molecular Richard Lathe, a fundadora do Intracell Research Group, Nikki Schultek, e o professor de neurociência e neuropatologia da Faculdade de Medicina Osteopática da Filadélfia, Brian Balin, entre outros especialistas, pediram colaboração científica internacional para investigar de que forma infecções como a do cérebro causada por Borrelia – chamada neuroborreliose de Lyme – podem causar doenças neurodegenerativas. A colaboração propôs estabelecer um protocolo de consenso para explorar a comunidade de micróbios no cérebro em pacientes com demência e/ou doença de Alzheimer.
Os médicos na linha de frente também passaram a apreciar as semelhanças entre condições crônicas complexas e aproveitar os ensinamentos da doença de Lyme no desenvolvimento de condições crônicas complexas. “Em apenas uma geração e meia de médicos, a doença de Lyme deixou de ser uma infecção bacteriana recém-reconhecida para se tornar o padrão de comparação para abordar doenças crônicas complexas”, diz o presidente da Ilads, Steven Harris. “Toda a gama da medicina e da ciência médica está engajada para lidar com esse modelo de doença.”
Antes de a pandemia acelerar a prevalência de condições crônicas complexas, a Ilads havia ampliado sua meta de apoiar o trabalho dos médicos para tratá-las. O conselho estuda mudar o nome da associação para refletir a amplitude das questões e fazer jus aos insights da
Lista parcial elaborada com base em informações da ONG Solve ME
SÍNDROME DA TAQUICARDIA POSTURAL ORTOSTÁTICA (POTS)
DISAUTONOMIA
PANDAS/PANS (SÍNDROMES NEUROPSIQUIÁTRICAS PEDIÁTRICAS)
FIBROMIALGIA
ME/CFS (SÍNDROME DA FADIGA CRÔNICA)
MCAS (SÍNDROME DA ATIVAÇÃO DOS MASTÓCITOS)
CRPS (SÍNDROME COMPLEXA DE DOR REGIONAL)
LÚPUS
SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ ESCLEROSE MÚLTIPLA
SÍNDROME DE SJÖGREN
GASTROPARESIA
COVID LONGA
MIS-C (SÍNDROME INFLAMATÓRIA MULTISSISTÊMICA PEDIÁTRICA)
HERPES VÍRUS HUMANOS
HIV-AIDS
FEBRE Q
EBOLA
HERPES ZÓSTER (COBREIRO) DOENÇA DE LYME
COXSACKIE (SÍNDROME MÃO-PÉ-BOCA)
DOENÇA DE CHAGAS

A HORA DE AS COMUNIDADES DE MÉDICOS, CIENTISTAS E PACIENTES DE DOENÇAS RELEVANTES TRABALHAREM AO LADO DOS REPRESENTANTES DO GOVERNO EM UMA NOVA ESTRATÉGIA NACIONAL AINDA MAIS AMBICIOSA, QUE POSSA FORNECER A ACADÊMICOS E LÍDERES DA INDÚSTRIA
UMA ESTRUTURA ÚTIL PARA ABORDAR DOENÇAS CRÔNICAS
ASSOCIADAS A INFECÇÕES
Ilads sobre a natureza dos sintomas persistentes. O credenciamento para bolsas de pesquisa da instituição está aberto para médicos comunitários que atendem os casos mais difíceis de Lyme como também para os que trabalham com doentes crônicos de forma mais ampla, colaborando para fazer avançar a adoção de novos tratamentos.
A infraestrutura médica existente é inadequada para coordenar o atendimento multidisciplinar que as doenças crônicas demandam. “Enfrentar o desafio das doenças crônicas complexas implica deixar de vê-las como condições separadas e construir uma nova geração de instituições que facilitem a colaboração entre as disciplinas médicas e quebrem as barreiras entre a pesquisa científica e o atendimento ao paciente”, diz Laura Pace. Como plano para realizar isso, a médica fundou o Instituto Metrodora, uma clínica dedicada a distúrbios do eixo neuroimune.
O aumento no número de pacientes de covid longa fornece um forte incentivo para as instituições médicas criarem novas estruturas capazes de oferecer cuidados médicos em várias especialidades. “A covid e suas sequelas atraíram a atenção do mundo de um modo que nunca aconteceu com a doença de Lyme ou a ME/ CFS”, observa Meghan O’Rourke, ela própria paciente de uma doença crônica, em seu livro The Invisible Kingdom: Reimagining Chronic Illness, de 2022. “As principais instituições agiram rapidamente quanto à necessidade de uma abordagem organizada de doenças crônicas associadas à infecção. É a oportunidade de construir a infraestrutura médica necessária para lidar com todas as doenças crônicas, não apenas a covid longa.”
Os pacientes também anseiam por oferecer e receber apoio em grupos de doenças individuais e dispostos a compartilhar sua experiência para facilitar o progresso em soluções e acompanhamento médico. Como é frequente que os sintomas sejam classificados como psicossomáticos, os pacientes com doenças de longa duração muitas vezes são vistos como ansiosos ou deprimidos. Por receio de ser mal interpretada, a comunidade começou a se organizar. Em 2023, uma nova Coalizão de Defesa de Pacientes com Condições Crônicas Associadas a Infecções (IACC-PAC) uniu organizações de defesa de pacientes em torno de necessidades coletivas. O grupo luta pela inclusão das vozes dos pacientes na pesquisa científica e para pautar a saúde pública.
Uma das principais recomendações é a criação de infraestruturas governamentais adequadas. “Precisamos de um escritório nacional dedicado ao crescente número de condições crônicas complexas, para acelerar abordagens multidisciplinares e colaboração interagências e criar novas oportunidades de envolver pacientes e stakeholders”, diz Emily Taylor, vice-presidente de defesa e engajamento da Solve M.E., uma organização sem fins lucrativos que
trabalha para ajudar as pessoas que vivem com ME/CFS, e membro da IACC-PAC. Uma série de workshops recentes da coalizão derivou em uma lista de prioridades adicionais, como cobertura de seguro de saúde, benefícios por incapacidade, coordenação simplificada do cuidado, maior aceitação cultural no local de trabalho e em ambientes educacionais e treinamento médico.
Avançando juntos
OMOVIMENTO DE INOVAÇÃO para Lyme e sua colaboração com o governo federal forneceram o impulso e os recursos necessários para desenvolver uma estratégia nacional para doenças transmitidas por vetores. No entanto, a doença é apenas uma manifestação do desafio médico muito maior que representam as doenças crônicas complexas associadas a infecções. A compreensão holística dessas condições vem se ampliando entre médicos, cientistas e pacientes.
Chegou a hora de as comunidades de médicos, cientistas e pacientes de doenças relevantes trabalharem ao lado dos representantes do governo em uma nova estratégia nacional ainda mais ambiciosa, que possa fornecer a acadêmicos e líderes da indústria uma estrutura útil para abordar doenças crônicas associadas a infecções, em suas muitas condições, complexas e indescritíveis, que afetam as pessoas hoje.
Podemos tirar lições das batalhas que travamos no passado, dos erros que cometemos e dos fatores fundamentais para nossos acertos. Lembremos como é importante estar abertos a todas as hipóteses científicas, a fim de liberar o pleno potencial de inovação. Continuamos comprometidos pela diversidade de pensamento nos órgãos administrativos, de modo que nossas instituições possam de fato cumprir sua função pública. Devemos unir as pessoas mais próximas da questão àqueles que controlam decisões e recursos, em um processo colaborativo, garantindo que não se passem mais 50 anos para que consigamos lidar com doenças crônicas complexas associadas a infecções. O
BERNADETTE CLAVIER é conselheira da Bay Area Lyme Foundation e da Invisible International, advogada do Center for Lyme Action e ex-diretora do Centro de Inovação Social da Escola de Administração de Stanford. Ela e vários membros de sua família contraíram Lyme e se recuperaram do estágio avançado da doença.
A autora gostaria de agradecer a Kristen Honey, Steven Harris e Linda Giampa por suas contribuições para este artigo e aos muitos membros da comunidade de doenças crônicas por seu papel na formação de sua compreensão da questão.
Fundações podem decidir gastar seus recursos até o fim e, com isso, deixar um legado duradouro e impactante POR ALICE HENGEVOSS E GEORG VON SCHNURBEIN
Fundações que têm um endowment podem se dar ao luxo da vida eterna, se assim desejarem. De fato, muitos no setor filantrópico acreditam que fundações devam existir para sempre. Mas mesmo os que partilham desse ponto de vista muitas vezes reclamam que elas dediquem muito pouco a doações. Fundações filantrópicas investem grande parte de seus endowment para obter retornos – quanto maiores, melhor. E, às vezes, esses investimentos acabam fomentando os problemas que a fundação busca sanar.
Especialistas em legislação pressionam por regras que façam as fundações pagarem mais. São batalhas longas, às vezes sem vencedor. Diante dos desafios sociais em série, como a mudança climática, a desigualdade econômica galopante e a migração forçada, muitos doadores e conselhos reconhecem que as fundações devem fazer mais. Um modo de fazer isso é zerar deliberadamente seus recursos e encerrar as atividades.
Muitos no setor filantrópico resistem a essa solução. Eles veem a morte organizacional como derrota. Isso contradiz a ideia fundamental de que organizações devem ampliar suas funções, não encerrá-las. No entanto, optar por fechar uma organização pode, de fato, melhorar seu funcionamento. Ter um prazo final determinado é um incentivo potencial à reavaliação e à reorientação estratégica, levando a um maior impacto.

Historicamente, as fundações adotam a ideia de perpetuidade – uma entidade pretende que seu legado perdure por muito tempo após a morte de seu fundador. No entanto, a realidade que verificamos é bem diferente: com base em nossa pesquisa, feita com entidades na Suíça, o tempo médio de vida de uma fundação é de cerca de 20 anos. A maioria das fundações no país foi criada nos últimos 30 anos, em um período de crescente riqueza privada. Número similar se estabeleceu na Alemanha, no Reino Unido e nos Estados Unidos. Ao contrário do clichê de que essas organizações são eternas e imutáveis, o setor se mostra dinâmico e sujeito a constantes mudanças. A única questão é se as mudanças são planejadas ou fruto do acaso.
Ainda que a longevidade de muitas dessas entidades mal se compare à duração da vida dos seres humanos, muitos conselhos de fundação veem suas organizações como
imortais. É uma atitude que contribui para a crítica corrente de que fundações estão estagnadas, têm um ritmo de funcionamento imperturbável e não alcançam impacto. Se uma fundação vive para sempre, mas não consegue criar impacto social em um determinado ano, ela sempre pode fazê-lo no ano seguinte, ou na próxima década, ou na década seguinte. Pior ainda, se uma fundação ignora todos os retornos e mantém apenas o valor nominal de seu endowment, ela perde valor ao longo do tempo. Em última análise, a fundação pode se tornar pequena demais para cumprir seu propósito original e ir à falência. Desde a crise financeira global de 2007-08, que levou a taxas de juros baixas ou mesmo negativas, o número de falências desse tipo na Suíça quadruplicou. Quando existe uma cláusula de caducidade para o endowment, o conselho é obrigado a gastar os fundos em um período predeterminado – muitas vezes já definido no nascedouro. No caso da One Foundation, na Irlanda, o prazo foi de dez anos; no da Fundação Mava, na Suíça, fixou-se em 30 anos. Outras fundações mudam do regime de perpetuidade para o de caducidade e passam a gastar em níveis mais elevados para que o capital seja consumido mais rapidamente. A Fundação Gebert Rüf, na Suíça, tomou a decisão de encerrar em 2012 e agora está chegando aos seus últimos anos, tendo aumentado seu dispêndio anual em 50%. À medida que a data final se aproxima, os membros do conselho e os líderes têm de pensar em como criar um fim significativo.
Usando vários estudos de caso sobre o fim de fundações na Irlanda, na Suíça, no Reino Unido e nos Estados Unidos, identificamos diferentes estratégias para que
encerrem atividades sem problemas e com sucesso. Conversamos com representantes e identificamos diferentes gatilhos que levaram à decisão de extinguir uma fundação. Internamente, as motivações mais comuns são uma promessa feita pelo fundador ou uma decisão da diretoria pelo fim. Entre os gatilhos externos, estão circunstâncias econômicas ruins, como a grande recessão de 2007-09, ou necessidades sociais urgentes, como as desencadeadas pela covid-19, que exigem desembolsos mais altos.
anos, de modo que consigam superar os tempos difíceis e encontrar apoio de novos doadores. Um encerramento bem-sucedido expande o legado além da vida da fundação por meio da capacitação dos parceiros. Ajudá-los a se desenvolverem é fundamental para que a influência seja duradoura. A comunicação clara, desde que a fase de encerramento se inicia até que caia o pano, é parte da construção do legado. O balanço final do impacto da fundação pode servir de modelo a outros atores filantrópicos.
dos colaboradores e oferecer soluções flexíveis para suas futuras carreiras. Entre os preparativos para essa transição, podemos listar coaching, treinamento profissional e horários de trabalho flexíveis. Os membros da equipe podem passar para uma nova posição com redução de carga horária, enquanto terminam o trabalho restante. Nos anos finais, a fundação precisa de pessoal com qualificações específicas. Muitas entidades requerem mais recursos humanos para gerenciar a carga de trabalho extra na fase final.
Encerramentos ajudam o capital filantrópico das fundações a fluir de volta para a sociedade, de modo a abordar as questões urgentes de nossos tempos
Além disso, a estratégia de encerramento pode se fundamentar em uma visão com base nos recursos ou em uma avaliação de necessidades. A abordagem baseada em recursos começa olhando para os ativos restantes e traça estratégias para seu gasto. Sob essa perspectiva, a fundação primeiro definirá um plano financeiro para seus anos finais e, em seguida, decidirá qual impacto ele permite alcançar. A visão centrada em avaliar necessidades, por outro lado, visa detectar as demandas mais importantes dos beneficiários e oferecer o máximo de apoio possível com os fundos restantes. Como as necessidades detectadas podem variar, a fundação terá que selecionar os beneficiários mais alinhados com o impacto que vise obter.
DEFINIR O FIM
Os aspectos mais relevantes de um encerramento significativo são legado, prazo e gestão de stakeholders. O fim de uma fundação não é uma morte súbita; sua influência continua viva depois que ela encerra suas operações.
O fulcro de qualquer decisão estratégica é ter claro qual é o legado que se pretende deixar. Uma abordagem possível é nutrir o ecossistema filantrópico de modo a que os parceiros consigam sustentar o impacto da fundação muito além de seu fim. Outra forma é que o legado seja pensado sob medida para as necessidades atuais dos parceiros.
Diante de uma recessão, por exemplo, a fundação pode dotar seus parceiros com fundos suficientes para sobreviver por dois
Em muitos casos, os parceiros se assustarão ao saber do encerramento – em especial, os que dependem financeiramente dela. Portanto é fundamental manter a transparência e a consistência da comunicação desde o início. O tempo dos devidos comunicados é parte do planejamento.
De modo geral, o encerramento vai de cinco a dez anos. Uma vez definido, esse cronograma vai determinar quais projetos em andamento serão concluídos e quais novos projetos podem ser realizados. Ele permite o planejamento dos recursos humanos e não humanos necessários para o bom funcionamento nos anos finais. O cronograma também deve contemplar o tempo para a fundação tirar seus ativos de quaisquer investimentos, a fim de ter um capital definido para esgotar. É claro que fundações que decidem se extinguir em resposta a urgências externas têm menos tempo para planejamento. No entanto, tomar as decisões gerenciais, financeiras e jurídicas necessárias com antecedência é essencial para um bom encerramento. Escolher o fim afeta muitos stakeholders, principalmente os parceiros que recebem fundos e a equipe da fundação. Parceiros possivelmente desejarão estender ao máximo a relação, enquanto membros da equipe tenderão a sair mais cedo em busca de novas oportunidades de trabalho. A fundação, porém, precisará de alguém para fechar as portas. Sem seus funcionários, seus negócios vão acabar antes do fim. Portanto, os líderes devem dar atenção especial ao bem-estar
Para os parceiros, perder as doações pode ameaçar sua existência. Por isso, é preciso avaliar a situação de cada um deles separadamente e com cuidado. Continuar a investir recursos limitados em uma determinada organização pode não fazer sentido, mas cortar o apoio muito cedo pode levar à sua dissolução. Haverá decisões difíceis a tomar. Nem todos os parceiros serão adequados à estratégia de encerramento escolhida e, portanto, a fundação pode preferir adotar novos parceiros para os anos finais. Na fase final, a fundação pode querer contar com os parceiros não apenas como beneficiários, mas também como aliados na comunicação sobre o encerramento e o legado previsto. Isso cria conscientização e alavanca o impacto social por mais tempo, após o apagar das luzes.
Planejar o fim é, em última análise, fazer uma reorientação estratégica e adotar um novo impulso para amplificar o impacto da fundação ao longo de seus últimos anos. Encerramentos ajudam o capital filantrópico das fundações a fluir de volta para a sociedade, de modo a abordar as questões urgentes de nossos tempos. A perenidade não está na fundação em si, mas no seu legado e no impacto social que gera. O
ALICE HENGEVOSS é chefe de pesquisa aplicada do Centro de Estudos de Filantropia da Universidade de Basileia, Suíça.
GEORG VON SCHNURBEIN é professor titular e diretor fundador do Centro de Estudos de Filantropia da Universidade de Basileia, Suíça.
A partir de dados já existentes, o Protocolo ESG Racial ajuda empresas brasileiras a combater a desigualdade dentro e fora de seus quadros profissionais
POR GUIBSON TRINDADE, DÉBORA
MONTIBELER E PAULA JANCSO FABIANI
Silvio Almeida escreve, em seu livro Racismo estrutural, que “as instituições são racistas porque a sociedade é racista”. Ele define racismo estrutural como um alargamento da noção de racismo institucional e argumenta que as instituições são apenas a materialização de uma estrutura social ou de meios de socialização que têm o racismo entre seus componentes. O racismo não é nem individual, nem um traço comportamental, mas uma expressão de uma característica estrutural na base de sociedades mundo afora – em especial, das de origem colonial como o Brasil.
Entender a natureza estrutural do racismo nos permite reconhecer e combater melhor sua expressão institucional, que no Brasil se manifesta na exclusão dos negros de todos os espaços de poder e de decisão, o que, por sua vez, limita a mobilidade social. Essa questão permanece como um vestígio das condições que se seguiram à abolição, quando o governo falhou em prover educação, trabalho e qualquer outra forma de apoio necessária para que os ex-escravizados transicionassem para uma vida de autonomia, independência e prosperidade.
Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que o desemprego e o trabalho informal são mais frequentes nesse grupo, que também está mais exposto à violência e à pobreza. Segundo a linha de pobreza determinada pelo Banco Mundial, 18,6% dos brancos brasileiros são pobres; essa porcentagem quase dobra entre a população negra. E, se 11,3% dos brancos estão desempregados, a taxa supera os 16% para
trabalhadores pretos e pardos. A disparidade se repete na remuneração.
A fim de que haja avanços nessa causa, organizações, em especial as empresas, precisam melhorar seu entendimento das reais condições de empregabilidade da população negra no país. A coleta de informação interna e o uso estratégico de dados sobre a composição racial da força de trabalho, particularmente nos cargos de liderança, pode ajudar as organizações a promover a equidade.
Um novo modelo para mensurar as desigualdades, o Protocolo ESG Racial, tem justamente esse objetivo. Vinculado ao Pacto de Promoção da Equidade Racial, iniciativa de organizações da sociedade civil voltada a atrair companhias e investidores institucionais para a causa, entre as quais o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (Idis), o protocolo oferece um novo olhar para uma velha questão, ao proporcionar às empresas uma maneira de quantificar a desigualdade dentro de suas equipes.
A população negra brasileira é definida pelo Estatuto da Igualdade Racial como a soma de indivíduos que se declaram pretos (negros de pele escura) e pardos (negros de pele clara), conforme o quesito “cor ou raça” do IBGE. Hoje, 56% da população brasileira se encaixa nessa definição. São pessoas para as quais o legado escravocrata continua a ser um imenso obstáculo no acesso da cidadania, do emprego e da mobilidade social.
Em anos recentes, o Brasil viu se alargar a consciência racial. De acordo com os dados mais recentes do IBGE, coletados no Censo de 2022, os que se declaram pardos são hoje 45,3% da população total, ultrapassando os brancos e tornando-se o maior grupo racial do país. Em paralelo, ao longo da última década, a ação afirmativa pública, por meio da Lei de Cotas, ampliou o acesso à universidade para pessoas racializadas e pobres, aumentando sua presença nesse estágio da educação. Esse processo teve reflexos na cultura – com negros mais representados, por exemplo, nas tão populares novelas de TV – e no marketing. Embora algumas empresas e outras instituições também tenham começado a responder a esse movimento, poucas
organizações colocam a equidade racial como uma pauta central. Destacam-se as que trabalham com foco em consultoria. Mesmo estas, porém, centram seus esforços em ações afirmativas e educativas. São medidas necessárias – mas, para ampliar a efetividade de seus resultados, é necessária uma abordagem ampla e multifatorial.
OS DADOS COMO BASE
Um dos entraves principais à promoção de equidade racial no trabalho é a escassez de dados. A pesquisa demográfica nas organizações e, de modo geral, a produção interna de dados raciais são uma prática pouco disseminada. A falta de letramento racial dificulta a compreensão da insuficiência nos processos de diversidade e inclusão nas companhias. Vige ainda a crença bastante comum de que a desigualdade racial se deve ao acaso ou, ainda, a questões de mérito pessoal.
O Protocolo ESG Racial foi desenvolvido com o objetivo de sanar tais lacunas de dados – e, consequentemente, de atuação. As empresas signatárias do Pacto de Promoção da Equidade Racial têm acesso a uma metodologia que provê métricas consolidadas no Índice ESG de Equidade Racial (IEER). Essa ferramenta de mensuração matemática se baseia em indicadores já existentes, posto que exigidos anualmente pelo Ministério do Trabalho e Emprego – a Relação Anual de Informações Sociais (Rais), a População Economicamente Ativa (PEA) e a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO).
O IEER permite, assim, medir com acurácia a disparidade racial, ao relacionar a presença e a remuneração de profissionais negros na comparação com a população economicamente ativa na região de atuação da companhia.
A mensuração, combinada ao acompanhamento das ações no âmbito da aplicação do protocolo, auxilia as signatárias a combater as principais desigualdades. De modo mais amplo, a iniciativa consolida o compromisso antirracista no âmbito corporativo e dá às empresas um papel concreto na construção de uma sociedade mais equitativa e sustentável.
MENSURAÇÃO
O IEER se estrutura em três níveis e é desenhado para ajudar as companhias a tornar
mais efetivas medidas já existentes e a criar novas, no combate à desigualdade racial.
No primeiro nível, o IEER_N1, é feito o diagnóstico da condição demográfica da empresa. A análise atribui peso substancial à presença de pessoas negras nos estratos superiores da hierarquia – indicador significativo de equidade. Com base no resultado, a empresa se compromete com novas metas de representatividade e à inclusão e desenha ações para cumpri-las em curto, médio e longo prazos.
Os níveis seguintes (IEER_N2 e N3) se relacionam aos objetivos estabelecidos pela empresa no N1. O N2 examina não só a inclusão, mas também a ascensão de profissionais negros em todas as esferas, desde o recrutamento inicial até a promoção e retenção nos quadros.
Ao longo das três etapas, o pacto acompanha e orienta as ações das companhias para melhorar seu IEER e, 18 meses após a adoção do protocolo, elas são reavaliadas. Hoje o pacto reúne 67 empresas signatárias, todas de grande porte, das quais 12 já foram reavaliadas.
Embora a confidencialidade estabelecida dentro do pacto e pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) impeça divulgar informação que permita identificar as empresas, é possível, sem localizar os resultados, mostrar exemplos da evolução de indicadores internos de signatárias.
O primeiro caso é o de uma firma que teve seu N1 calculado em -0.72, indicando um desequilíbrio considerável na proporção de pessoas brancas em comparação com pessoas negras em sua estrutura hie-
Mesmo em empresas ainda não reavaliadas, a ampliação de vagas afirmativas em diferentes graus hierárquicos é notável
Por fim, no N3 contempla-se a contribuição para fora dos muros da empresa. Seu foco é a alocação de investimentos sociais corporativos em prol de equidade racial, visando à educação e ao treinamento de profissionais negros e seu ingresso no mercado de trabalho. O protocolo propõe os parâmetros para a alocação dos investimentos, cabendo às empresas definir onde e como destiná-los. Esses investimentos devem fortalecer os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de números 4 (educação de qualidade), 8 (emprego decente e crescimento econômico) e 10 (redução das desigualdades), com foco em garantia de direitos e antirracismo. O N3 valoriza, assim, a promoção da equidade racial em toda a sociedade.
A análise matemática do primeiro nível serve como ponto de partida para os N2 e N3, seguindo uma escala que varia de -1 (quadro com menos negros do que a proporção encontrada na população local) a +1 (mais negros do que brancos). Portanto, quanto mais próximo de 0 (zero) for o índice registrado pela empresa, mais sua demografia interna se alinha às características raciais da região em que opera. É possível melhorar o N1 por meio da implementação das políticas referentes ao N2 e ao N3.
rárquica. Decorrido um ano e meio, após a adoção de novas políticas e práticas (N2) e de investimento social em treinamento e qualificação de trabalhadores negros (N3), a companhia teve uma melhoria de 22%, chegando a uma pontuação de -0.56. Essa foi a pontuação inicial de outra signatária. As ações adotadas pela empresa nos níveis subsequentes levaram a uma melhoria de 66%, chegando, ao fim do ciclo de avaliação, a um índice de -0.19, patamar quase ideal de equilíbrio racial. Mesmo empresas que ainda não concluíram os primeiros 18 meses reportam regularmente ao pacto ações implementadas – como revisões de práticas de recrutamento e investimentos em educação e conscientização. A ampliação de vagas afirmativas em diferentes graus hierárquicos é notável mesmo antes da reavaliação.
O CAMINHO PELA FRENTE Mensurar equidade racial em um país de proporções continentais como o Brasil apresenta uma série de desafios. Um deles é a criação de padrões e diretrizes que façam sentido e possam ser replicadas em todos os estados. O protocolo oferece essa possibilidade, ao considerar as es-
pecificidades de cada local de aplicação. Outra etapa a vencer é a difusão, além do eixo Sul-Sudeste. Ainda que muitas das participantes sejam multinacionais com unidades país afora, a adesão de signatárias nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste é menos expressiva.
Temos consciência de que não é só a população negra a sofrer pela invisibilização e precariedade no país. Mesmo dentro dela as questões têm nuances. O ônus desproporcional que a vida doméstica impõe às mulheres, por exemplo, é ainda mais pesado entre as negras, que são chefes de família em 56,5% dos lares brasileiros.
Os povos originários sofreram tentativas de genocídio desde a colonização e foram alienados do contexto da sociedade brasileira por séculos. O fato de que o Censo de 2022 registre que apenas 0,8% da população geral se declara indígena reflete também o massacre epistemológico que sofreram. Por isso, o pacto está desenvolvendo novos índices, voltados para esses grupos.
Acreditamos que essas iniciativas são necessárias e trarão frutos. Com os dados já disponíveis, é possível enxergar a realidade da desigualdade racial no país e, em posse da informação, agir. No entanto, nenhuma ferramenta, presente ou futura, poderá prosperar sem o anseio e o esforço conjuntos. Só uma abordagem colaborativa, unindo os setores público e privado e a sociedade civil pode construir, de fato, a equidade. O
Uma versão ampliada deste texto foi publicada na série digital “A busca global pela equidade”, reunindo artigos de sete regiões do mundo em que a SSIR atua. Leia mais em ssir.com.br/serieglobal.
GUIBSON TRINDADE, comunicólogo, ativista, estudou relações públicas e gestão de pessoas. Especialista em ESG e raça, cofundador e gerente-executivo do Pacto de Promoção da Equidade Racial, é professor convidado na Fundação Dom Cabral.
DÉBORA MONTIBELER psicóloga, desenvolveu estudos acadêmicos sobre processos de subjetivação e produção de identidade racial entre a população negra brasileira. É especialista em diversidade e inclusão na Blend Edu, além de ser membra-associada e consultora do Pacto de Promoção da Equidade Racial.
PAULA JANCSO FABIANI, CEO do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (Idis), tem sua trajetória marcada pela atuação nos campos da filantropia e cultura de doação. Em 2020, ganhou o Prêmio Folha Empreendedor Social pela liderança do Fundo Emergencial da Saúde - Coronavírus Brasil.
SERVIÇOS SOCIAIS
POR DANIELA BLEI
É historiadora, escritora e editora de livros acadêmicos. Sua produção pode ser encontrada em daniela-blei.com/writing. Ela tuita esporadicamente em @tothelastpage
Em 2020, Matthew Stanley, pesquisador de pós-doutorado da Faculdade de Administração Fuqua da Universidade Duke, observava sua esposa, médica residente, e seus colegas, na tarefa estressante de cuidar dos pacientes durante a pandemia. Mais ou menos na mesma época, Stanley percebeu uma nova tendência no ambiente da assistência de saúde. Cartazes e ilustrações exibiam a mensagem: “Obrigado, heróis da saúde!”. Stanley se perguntou como a linguagem que transforma alguém em herói moldou as percepções públicas dos funcionários e suas experiências profissionais. Heróis teriam salários e benefícios maiores e novas oportunidades?
Stanley e seu orientador, o professor de gestão e organização Aaron C. Key, começaram perguntando aos “heróis” sobre as consequências do rótulo. Em primeiro lugar, historicamente, o termo havia sido atribuído a indivíduos que haviam realizado façanhas extraordinárias, e não a grupos inteiros, como hoje. A difusão de imagens e textos que asso-
ciam funcionários a heróis é recente; analisando os efeitos para os funcionários, os pesquisadores descobriram que a heroicização não contribui para melhorar os resultados ocupacionais. Ao contrário, faz com que sejam explorados, mesmo depois de migrarem para uma nova carreira. Em um trabalho de revisão abrangendo nove estudos e utilizando grandes amostras de residentes americanos, os pesquisadores observaram como a heroicização influenciava as expectativas dos cidadãos, facilitando a exploração dos empregados.
“Estávamos interessados em usar estímulos naturalistas para entender como as imagens influenciavam as pessoas”, explica Stanley. “Mas nos interessava mais ainda ver o que havia disponível na internet, nas mensagens coladas nas salas de aula no contexto dos professores, nas mensagens afixadas nos centros de saúde e nas imagens de veteranos e militares que se apresentam em eventos esportivos, nos sites do governo e nas organizações que procuram ajudar os veteranos a encontrar novos empregos”.
Em um dos estudos, os participantes observaram pôsteres que mostravam enfermeiras e veteranos usando capas, como heróis. Depois, apagando digitalmente as capas, os pesquisadores mostraram a um grupo de controle imagens de enfermeiras e veteranos usan-

do roupas comuns. Os pesquisadores observaram os efeitos da heroicização ao apresentarem, aleatoriamente, as duas situações e perguntarem aos participantes se os retratados deveriam fazer turnos extras sem compensação ou aceitar cortes salariais. Como, na visão dos participantes, heróis estão dispostos a se sacrificar e a serem altruístas, eles esperavam que os funcionários trabalhassem voluntariamente, sem nenhuma compensação. Segundo Stanley, “abnegação e sacrifício pessoal são aspectos essenciais do heroísmo nas culturas ocidentais, ao menos em 2022 e 2023”.
Embora a heroicização tivesse a intenção de demonstrar apoio popular e admiração, ela pesou para que fossem mais explorados. Ora, sendo
razoável que os enfermeiros se apresentassem voluntariamente para turnos extras todos os meses sem receber adicional, os sistemas hospitalares poderiam introduzir essa política sem resistência. Por mais esdrúxula que essa premissa possa parecer, os participantes do estudo assumiram que tratar os heróis com desprezo seria permitir que eles agissem de acordo com seus próprios valores. Os pesquisadores alertam para os efeitos, caso os funcionários, temendo prejuízos, aceitassem condições degradantes. “Existe o risco potencial de reforçar a crença entre gestores de que as pessoas em profissões vistas como heroicas queiram ser exploradas.”
Os estereótipos negativos e suas consequências para os
indivíduos e a sociedade já foram estudados pelos cientistas sociais há muito tempo. Mas rótulos positivos, que em geral são amplamente aceitos, não foram tão bem analisados. Além de demonstrar como os estereótipos positivos podem resultar em exploração de “heróis”, a pesquisa também mostra que esse fenômeno impede o público de ver os funcionários como pessoas com vontades e necessidades.
“As pessoas pressupõem que os americanos se alistam no serviço militar porque desejam servir abnegadamente ao país”, comenta Stanley. “Mas essa não é a maior razão para escolher a carreira militar. Os principais atrativos citados pelos militares são remuneração condizente, estabilidade de emprego, benefícios de aposentadoria e assistência médica. Claramente não são os itens mais heroicos.”
As consequências negativas de um rótulo positivo muito difundido sugerem que, ao menos em parte, fontes psicológicas de exploração não são intencionais. “O artigo levanta questões importantes e preocupantes”, destaca David Sherman, professor de psicologia social e da saúde da Universidade da Califórnia em Santa Bárbara. “Seria bom se a sociedade parasse para pensar nas possíveis implicações negativas quando nós veneramos heróis. Espero que a conscientização possa ajudar as pessoas a apreciarem a plena humanidade e a complexidade que move essas pessoas às quais chamamos heróis e a usufruírem de suas contribuições sem colocá-las em risco de exploração.” O Veja o estudo completo: “The Consequences of Heroization for Exploitation”, por Matthew L. Stanley e Aaron C. Kay, Journal of Personality and Social Psychology
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Em 2016, acadêmicos das áreas de negócios e de impacto social do Insead em Singapura se uniram para estudar um interesse comum do grupo: microfinanças. O grupo observou com preocupação o fato de o Banco Central da Índia tirar de circulação todas as notas de 500 e 1.000 rupias como medida de combate à corrupção. Essa desmonetização foi o estopim de uma crise de liquidez com graves consequências para o microcrédito, utilizado principalmente no setor rural, que opera com dinheiro vivo. De repente, os mutuários deixaram de ter moeda para saldar seus compromissos.
Analisando a brusca ruptura política para o setor, o grupo do Insead coletou dados e realizou uma pesquisa de campo para entender as implicações dessa política. Em um novo artigo, Arzi Adbi, atualmente professor de estratégia e política da Faculdade de Administração da Universidade Nacional de Singapura, Matthew Lee, professor de políticas públicas e gestão da Escola de Governo Kennedy da Universidade Harvard, e Jasjit Singh, professor de estratégia e desenvolvimento sustentável do Insead em Singapura, dissecaram as consequências da desmonetização de 2016 nas taxas de reembolso e inadimplência na Índia e descobriram que os relacionamentos nas co-
munidades contribuíram para aumentar a crise.
Com a colaboração de uma grande instituição financeira de microcrédito da Índia, foi possível obter dados de aproximadamente 2 milhões de mutuários e estudar padrões. No mês anterior à desmonetização, a inadimplência girava em torno de 2%. Nos meses subsequentes, a inadimplência disparou, ultrapassando 40%.
Os pesquisadores descobriram que um atraso na substituição das notas agravou a crise. O governo instruiu os indianos a levar as notas fora de circulação a um banco cadastrado, que as trocaria por novas. Mas o governo demorou para distribuir as cédulas, deixando os que faziam pagamentos em dinheiro vivo sem recursos. Como havia um número limitado de notas novas, os bancos limitavam as quantias para troca. Os dados mostram que, em vez de ter um impacto único, a crise se estendeu por vários meses.
O microcrédito foi popularizado por Muhammad Yunus, fundador do Grameen Bank em Bangladesh, que recebeu o Prêmio Nobel por seu trabalho. O principal insight de Yunus foi que as relações e as pressões sociais entre os mutuários contribuem para o sucesso do microcrédito.
Yunus percebeu que, para a população rural de baixa renda que não dispõe de garantias ou histórico de crédito em países em desenvolvimento, a “garantia social” poderia se tornar um mecanismo similar. Se as pessoas de um vilarejo ou um grupo assumem mutuamente a responsabilidade por todos os empréstimos, a adimplência sobe, uma vez que as pessoas não querem desapontar os vizinhos ou causar problemas financeiros. “Em tempos
normais, essas relações e as pressões que eles criam para o reembolso ajudam o mercado a funcionar”, observa Matthew Lee. “Mas o que acontece quando um evento extraordinário faz com que um grande número de pessoas pare de pagar? A pressão social pode agir no sentido inverso?”
Lee e seus colegas encontraram evidências consistentes disso. Os fortes elos que os bancos de microcréditos pretenderam estimular foram o que aumentou a inadimplência, levando ao colapso das microfinanças.
“A ideia central ao aplicar soluções baseadas na comunidade para resolver problemas socioeconômicos é a de que essas soluções são eficazes porque estão incorporadas nos relacionamentos sociais e nas normas dominantes, o que facilita e reforça a cooperação”, explica Aseem Kaul, professor de gestão estratégica e empreendedorismo da Faculdade de Administração Carlson da Universidade de Minnesota. “O artigo mostra que essas mesmas relações podem criar fragilidades, acelerando a quebra de normas e acarretando uma série de falências individuais que atingem toda a comunidade.”
O capital social é visto como decisivo para o setor social porque dele depende a eficácia de várias intervenções. “Ele é incrivelmente forte e pode ser aproveitado para o bem”, observa Lee. “Mas descobrimos uma provável consequência negativa. Deveríamos pensar também em como ele pode agir contra os nossos objetivos.” O
Veja o estudo completo: “Community Influence on Microfinance Loan Defaults Under Crisis Conditions: Evidence from Indian Demonetization”, por Arzi Adbi, Matthew Lee, e Jasjit Singh, Strategic Management Journal
Jessica Sklair analisa o comportamento dos grandes doadores no país, trazendo à tona suas incoerências
POR LEONARDO LETELIER
Jessica Sklair é uma observadora privilegiada da realidade filantrópica da elite brasileira e, em Brazilian Elites and Their Philanthropy – Wealth at the Service of Development, (As elites do Brasil e sua filantropia – riqueza a serviço do desenvolvimento), disponível apenas em inglês, traz histórias às quais a maioria de nós não teria acesso.
A partir de uma pesquisa etnográfica, metodologia qualitativa que consiste em estudar e descrever a cultura e o comportamento de um dado grupo, trazendo o que podemos chamar de “estudos de caso” de quatro representantes de famílias brasileiras e sua filantropia, a autora conecta conceitos, contextos e tendências mais amplos do setor, no período de 2008 a 2019.
Na verdade, as entrevistas foram realizadas entre 2008 e 2010, e Sklair se valeu de um segundo período no Brasil, entre 2018 e 2019, para retomar conversas e avaliar os avanços no campo quase dez anos depois, o que gerou o capítulo final do livro – e boa parte das minhas críticas a ele.
Apesar de traços acadêmicos – como as várias páginas para justificar a pesquisa etnográfica, ou as dezenas de notas e referências bibliográficas ao fim de cada capítulo – pesarem contra a fluidez do livro, levei poucas horas para lê-lo.
É interessante ver como a autora conta histórias com maestria, preservando o
anonimato dos personagens – muitos dos quais conheço fora das páginas da obra. No início do livro, a autora traça um histórico da evolução do terceiro setor no Brasil, colocando as ONGs no campo do ativismo – sobretudo político –, e as famílias, no daqueles que se beneficiam do statu quo. Esse “vício de origem da filantropia brasileira” é usado, ao longo da narrativa, como parte da explicação que ela dá para forma como a filantropia é aplicada pela elite brasileira: a partir de uma lógica de contraposição, e não de confiança.
Jessica Sklair abre uma janela para observar a atuação filantrópica de quatro personagens, com os nomes fictícios de Fernando, Claudia, Bruno e Julia, cujas histórias se cruzam na Fundação Futuro –nome também inventado para a instituição que funciona como um quinto personagem. Essa entidade, que naquele momento se voltava para educar a próxima geração da elite brasileira, não existe mais.
Dos quatro protagonistas, Fernando é o único que gerou a própria riqueza, atuando no mercado financeiro; os demais eram herdeiros. Claudia havia trabalhado em companhias de sua família, passou a comandar a fundação da empresa familiar e

queria “profissionalizá-la”. Bruno herdou, no divórcio dos pais, um volume substancial de recursos, advindos de uma empresa familiar reconhecida por práticas de responsabilidade social corporativa. Julia começou a trabalhar na fundação da empresa familiar após concluir o mestrado, enquanto se preparava para seu próximo passo acadêmico, e passou a liderá-la com a morte repentina do avô.
Todos os protagonistas demonstram um desejo sincero de tentar exercer um papel positivo na sociedade por meio da filantropia. No entanto, variam as formas como cada qual busca exercer tal papel, segundo uma combinação de questões e contradições pessoais (a relação do indivíduo com dinheiro, com sua família e com seus pares); corporativas (as práticas da empresa familiar e/ou da fundação a ela ligada); e históricas (tendências em relação à filantropia corporativa, como o investimento social privado, foco em profissionalização e/ou empreendedorismo).
Ao retratar a jornada de cada um dos quatro personagens e a narração que fazem de sua trajetória e da de sua família, Sklair se esforça para não fazer julgamentos de valor – sem, por isso, esconder as contradições presentes.
É o caso do empresário que diz querer o melhor para os funcionários, mas que, em seu memorial, tem omitida sua profunda decepção com a atuação sindical destes na resolução de questões trabalhistas. Ou, em outro exemplo que a autora sublinha, o relatório de sustentabilidade de uma empresa que lista o cumprimento de obrigações legais como se fossem parte de suas atividades de responsabilidade social.
Ao descrever as práticas da elite (e de suas empresas), Jessica Sklair tenta fazer a conexão destas com movimentos nacionais – como a emergência do termo “investimento social privado” – ou globais, como o filantrocapitalismo.
Sklair aponta que, em ambos os casos, atende-se mais ao agente que pratica o ato – o filantropo ou a empresa – do que aos supostos beneficiados pelo ato de incorporar à filantropia a lógica de “eficiência empresarial”. Isso decorreria de tal atitude ser tomada como solução dos desafios globais, sem incluir no desenho dos programas a discussão das condições que deram origem à riqueza das elites e aos problemas a serem enfrentados – e sem contemplar a participação dos tais supostos beneficiários.
Uma crítica ao filantrocapitalismo, o livro Winners Take All: The Elite Charade of Changing the World, de Anand Giridharadas, já foi objeto de resenha da SSIR nos Estados Unidos (o texto está disponível em inglês no site da revista). Muitas vezes, o investimento social privado, pelo fato de ser centrado nas necessidades da empresa (marca, geografia, novas prioridades e negociações anuais de orçamento), exacerba ainda mais esse fato.
Jessica Sklair não gasta palavras tentando florear uma prática muito comum no setor social brasileiro: a subcontratação de ONGs por fundações e institutos.
Ainda que as instituições contratantes se refiram a esse fato como “parceria”, muitas dessas ONGs cumprem na realidade o papel de fornecedores, ou seja, não têm autonomia programática. Há, ainda, uma desvantagem importante. Enquanto um fornecedor, ao colocar um “preço” no seu serviço, inclui uma margem de lucro na operação que pode ser reinvestida no negócio, de uma “ONG parceira”, não se aceita “preço” (com margem) – apenas “custo”. E, na quase totalidade dos casos, nem mesmo se aceita o “custo cheio”, apenas o “custo descontando atividades que o financiador não quer pagar” (tipicamente, os custos de gestão).
A autora dedica um capítulo inteiro ao trabalho das organizações intermediárias –como o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (Gife) e a própria Fundação Futuro. Com isso, registra a importância de organizações que conseguem fazer pontes, em termos de linguagens e abordagens, entre os centros de poder e recursos e os centros de necessidades (e potência). Mas também revela as limitações na atuação dessas entidades, uma vez que, normalmente, dependem de financiamento das mesmas organizações que gostariam de ver
transformadas. Como gestor de uma organização intermediária, a Sitawi, reconheço o dilema e acrescentaria que a percepção da importância dessa classe de organização é bastante heterogênea na sociedade.
Por outro lado, Sklair perde a oportunidade de explorar a conexão das histórias relatadas no livro com discussões atuais como “filantropia decolonial” e “filantropia baseada em confiança”. Acredito que poderíamos ter insights interessantes a partir desses nexos.
Ao retornar ao Brasil (e ao tema) dez anos mais tarde, ainda no início do nascimento do investimento de impacto, a autora traz duas colocações das quais discordo frontalmente.
A primeira, mais técnica, é a descrição de investimento de impacto como uma nova classe de ativo. Em 2019, essa discussão já havia sido finalizada e pacificada havia muito. Investimento de impacto não representava nem representa uma classe de ativo, e, sim, uma estratégia ou lente de investimento (com intencionalidade de impacto positivo e expectativa de retorno financeiro) para qualquer classe de ativo.
A segunda, mais relevante, é um contraponto feito entre investimento de impacto e grantmaking como caminhos alternativos (ou opostos?) para a filantropia das elites brasileiras. Como testemunha e participante dessa discussão em nível nacional e global desde 2008, posso afirmar que investimento de impacto não representava e não representa uma evolução da filantropia – isso é o que algumas pessoas procuravam vender, para visível benefício próprio. É, sim, uma estratégia de investimento, como indicado acima.
No Brasil, essa posição era expressada abertamente tanto pelo Gife – pelo lado dos operadores do investimento social privado –quanto pela então Força-Tarefa de Finanças Sociais (hoje Aliança pelo Impacto) – pela parte dos fomentadores do investimento de impacto –, entre tantos outros.
Da mesma forma, em países de forte tradição filantrópica, como os Estados Unidos e o Reino Unido, o argumento do “investimento de impacto como evolução da filantropia” nunca foi levado a sério por especialistas (a não ser, novamente, como argumento por parte daqueles que se beneficiariam disso).
Uma pesquisa lançada neste ano pela Sitawi sobre a atuação de famílias de alto patrimônio em investimento de impacto e filantropia aponta para um mix de atuações filantrópicas, com maior prevalência de doações para entidades da própria família do que para ONGs ou causas.
Vale adicionar que números recentes do Censo Gife (realizado após a publicação do livro de Sklair) indicam que o grantmaking vem ganhando força nos últimos anos – em especial após a pandemia – entre os membros empresariais e fundações/ institutos familiares. Mas esses dados refletem o que acontece com as doações após chegarem à fundação ou instituto familiar. Esse aumento da presença de grantmakers também se relaciona ao fato de que mais fundos independentes passaram a integrar o censo como respondentes. Quanto a esse levantamento, o primeiro fator pode ser temporário, mas o segundo tende a ser mais permanente.
Na minha opinião – e especialmente devido ao meu foco de atuação em “finanças do bem” –, o grande buraco na narrativa de Sklair é a ausência de dados, ou ao menos comentários, sobre o volume movimentado pelas famílias a cada evolução do entendimento dos personagens do livro sobre sua atuação filantrópica.
A narrativa seria muito bem complementada – e seus achados teriam maior sentido – se a autora houvesse adotado a máxima do jornalismo investigativo, follow the money, ou “siga o dinheiro”, mandamento popularizado a partir de uma fala do personagem Garganta Profunda, fonte na reportagem sobre o escândalo de Watergate, no filme Todos os homens do presidente. Não digo que seria uma tarefa fácil, dada a discrição das famílias de alto patrimônio em relação a temas de dinheiro. Mas, ao nos privar dessa vertente de pesquisa, o livro nos deixa sem saber se (e quanto) as convicções filantrópicas das famílias se materializam na prática de forma relevante ou se estão mais para palavras ao vento. Para usar outra expressão, permitiria ver se as famílias, de fato, “colocam a mão no bolso” e praticam o que pregam. O
LEONARDO LETELIER é CEO da Sitawi Finanças do Bem e diretor-executivo da Endowments do Brasil, organizações que trabalham desenvolvendo infraestrutura para a economia de impacto no país.

Desde o fim de abril, as enchentes no Rio Grande do Sul impactaram mais de 2 milhões de pessoas em 400 municípios, no que já é a maior tragédia climática da história da região. Organizações variadas têm se mobilizado para tentar mitigar os danos. Entre elas está a startup Água Camelo, que trabalha com mochilas de purificação de água e educação sanitária e já destinou mil kits ao estado, garantindo 2,5 milhões de litros de água potável por dia para cerca de 1 milhão de gaúchos sem acesso a ela. A filtragem usa membrana de fibra oca, que remove bactérias, protozoários e partículas em suspensão, além de microplásticos. A Água Camelo atua em 15 estados, sobretudo no semiárido e na Amazônia. Na foto, de 2020, meninos da etnia yawanawá, no Acre, carregando o kit. Para conhecer melhor a Água Camelo e saber como ajudar, acesse aguacamelo.com.br

































































Aponte a câmera do celular para o QR CODE abaixo

























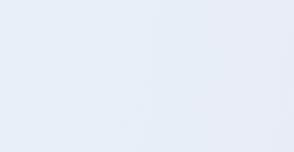






Descubra como o Movimento Bem Maior está construindo uma filantropia onde todos avançam juntos.












baixe agora


