
Governar bem exige parcerias: as PPPs na Califórnia • Nos negócios, sai a sustentabilidade, entra a regeneração



Governar bem exige parcerias: as PPPs na Califórnia • Nos negócios, sai a sustentabilidade, entra a regeneração

Nos Estados Unidos, sim, opinam Mark Kramer e Steve Phillips; cinco autores brasileiros analisam a questão no contexto nacional

POR MARK KRAMER E STEVE PHILLIPS
Avanços espetaculares na escala e na sofisticação da filantropia estratégica nos Estados Unidos não bastaram para melhorar as condições da população país afora. Propomos um novo modelo – a filantropia de empoderamento – que promova a autodeterminação política e econômica e ajude indivíduos a buscar suas próprias soluções e a garantir uma plena democracia multirracial
Respostas
Richard Sippli, do Movimento Bem Maior; Raphael Mayer, da Simbi Social; Paula Fabiani, do Idis; e Eliana Sousa Silva e Gisele Ribeiro Martins, da Redes da Maré, trazem o debate para o contexto nacional

42
Governar bem exige parcerias
POR KATHLEEN KELLY JANUS
De mudanças climáticas a ameaças à segurança nacional, os problemas que o mundo enfrenta são grandes demais para serem solucionados apenas por governos. Parcerias público-privadas mostram como a colaboração entre setores pode catalisar e potencializar a inovação
52
Como a regeneração está redefinindo os negócios
POR CHRISTOPHER MARQUIS
A busca pela sustentabilidade não alterou de forma substancial os efeitos destrutivos da atividade empresarial. Somente adotando um novo modelo poderemos enfrentar as maiores crises globais da atualidade




CARTA AO LEITOR
4 O meu, o seu e o nosso
SSIR ONLINE
5 Uma nova abordagem / Decolonizar métricas... / ... E o conhecimento / Retrato do Brasil / Mosaico filantrópico
O QUE HÁ DE NOVO
6 Na Índia, mulheres alçam voo / Nada de construir do zero / Democracia com acessibilidade / Na Califórnia, artistas ganham teto todo seu
HISTÓRIAS DO CAMPO
10 Crianças com deficiência não ficam para trás
No Maláui, Sightsavers trabalha pela educação e contra os estigmas que atingem esse grupo
POR MADALITSO WILLS KATETA
12 Construção circular
Uma equipe multinacional está reciclando concreto e tijolos usados para novos edifícios na República Tcheca
POR PAUL HOCKENOS
14 Programando uma segunda oportunidade na vida
Com programa de treinamento e apoio, empresa social Take2 ajuda na reinserção de ex-presidiários
POR RINA DIANE CABALLAR
ESTUDO DE CASO
16 Promovendo uma cultura de cuidado na educação
Nas últimas duas décadas, a Fundação Jed luta contra a crise de saúde mental que aflige jovens nos Estados Unidos. Sua história destaca a importância de abordar as causas culturais desse fenômeno, por meio da mudança de sistemas
POR ALISON BADGETT
Um dado de pesquisa: 50% dos estudantes universitários tinham ansiedade e depressão em um grau que atrapalhava sua vida pessoal ou acadêmica
— DE PROMOVENDO UMA CULTURA DE CUIDADO NA EDUCAÇÃO P. 18
PONTO DE VISTA
61 O problema da diversidade no voluntariado
A falta de recursos não deveria impedir jovens de servir a suas comunidades
POR YASMINE MAHDAVI
63 Uma economia sem dinheiro vivo não é boa
O futuro das finanças pode ser digital, mas não devemos subestimar a resiliência e a liberdade que a moeda em espécie traz
POR SEEMA PREM
65 Quem sabe mais sobre agrofloresta?
Em certos contextos, os métodos atuais para alcançar a sustentabilidade agrícola podem ser contraproducentes à preservação ambiental
POR EVELYN R. NIMMO, ANDRÉ E. B. LACERDA, LEANDRO BONFIM E JOEL BOTHELLO
PESQUISA
67 Por que adotamos pequenos incentivos / Renda básica universal em xeque
LIVROS
70 Lições sobre comunicação eficaz
Supercomunicadores, de Charles Duhigg
RESENHA DE AYESHA ANNA NINAN
ÚLTIMO OLHAR
72 O cerrado pede passagem

Samambaia.org é mantenedora da Stanford Social Innovation Review Brasil , que você folheia agora, porque ela sintetiza ideais que nos movem – o fortalecimento da democracia, a defesa da liberdade de expressão artística e acadêmica e os espaços voltados às múltiplas expressões culturais.
Como uma entidade que fomenta estudos para o crescimento econômico do Brasil, com foco na ampliação do mercado interno e na modernização tributária, temos parceria com o Observatório de Política Fiscal do Ibre/FGV. Na defesa da democracia, apoiamos instituições como o Mobile (Movimento Brasileiro Integrado pela Liberdade de Expressão Artística) e o LAUT (Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo). Somos também mantenedores da República.org , voltada para o reconhecimento dos servidores e do serviço público brasileiro.
Saiba mais sobre nós em https://samambaia.org/
Fale conosco samambaia@samambaia.org
A QUEM CABE O ENFRENTAMENTO estrutural dos grandes desafios socioambientais – ao governo, ao terceiro setor ou à iniciativa privada? E qual dessas instâncias tem mais capacidade para fazê-lo com eficiência?
Não há uma resposta única e inequívoca para essas questões. E, no entanto, não podemos nos privar de procurar respondê-las. É o que fazem os principais textos desta edição.
No artigo de capa, “Onde a filantropia estratégica errou”, Mark Kramer e Steve Phillips, dois nomes atuantes da filantropia estratégica, argumentam que essa abordagem, defendida por eles ao longo de anos de atuação, se esgotou. Apesar da forte cultura de doação e do volume crescente de recursos destinados à filantropia nos Estados Unidos, a sociedade americana não avançou em causas estruturais, afirmam.
Para os autores, é chegada a hora de fazer o giro para o que chamam de “filantropia do empoderamento”. No modelo por eles defendido, os beneficiários, e não os donos do dinheiro, devem ser os responsáveis por decidir como e onde usar os recursos. A dupla sustenta, ainda, que fundações e outras entidades devam se engajar mais diretamente na defesa de causas que promovam o estabelecimento de uma democracia multirracial, o verdadeiro caminho para a mudança sistêmica. No entanto, não poderíamos nos esquivar de trazer esse debate para o contexto brasileiro, tão diferente da realidade analisada por Kramer e Phillips. Assim, convidamos cinco autores nacionais a responder às principais questões levantadas no artigo de destaque.
Richard Sippli, do Movimento Bem Maior; Raphael Mayer, da Simbi Social; Paula Fabiani, do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social; e Eliana Sousa Silva e Gisele Ribeiro Martins, da Redes da Maré, trazem suas contribuições ao debate, a partir das diferentes posições que ocupam dentro do ecossistema da filantropia no Brasil.
Kramer e Phillips argumentam, ainda, que nenhuma quantidade de recurso filantrópico pode ser comparável ao orçamento do governo e à capacidade deste para distribuí-lo. Kathleen Kelly Janus sabe disso. Mas sabe também que a dimensão do alcance, sozinha, não faz a diferença – e, ainda, que o dinheiro do contribuinte não pode ser aplicado livremente em experiências inovadoras não suficientemente testadas.
Em “Governar bem exige parcerias”, ela analisa os fatores para o sucesso das colaborações entre a administração pública, a filantropia e o setor privado na Califórnia. Janus escreve com conhecimento de causa, pois foi assessora do governo estadual para parcerias público-privadas, as PPPs, crescentemente adotadas também no Brasil.
A responsabilidade por resolver os problemas socioambientais de maior monta é, também, o tema de Christopher Marquis. Professor de administração na Universidade de Cambridge, ele afirma que as empresas já não podem, simplesmente, evitar causar danos e, sim, atuar para repará-los.
No artigo “Como a regeneração está redefinindo os negócios”, Marquis diz que a preocupação com sustentabilidade não vai salvar o planeta. Regenerá-lo, porém, implica uma mudança total de mentalidade, tanto das empresas quanto dos consumidores. Um dever compartilhado, portanto. Afinal, devemos nos lembrar de que os recursos, o capital e os negócios podem ser meus ou seus. Mas a sociedade e o ambiente são nossos. – FRANCESCA ANGIOLILLO
ssir.com.br publicação trimestral volume 3 I número 9 I setembro 2024
Diretora-geral Carolina Martinez carolina@ssir.com.br
Editora-chefe Francesca Angiolillo francesca@ssir.com.br
Editor-assistente Bruno Ascenso
Programador Web Daniel Miranda
Estagiária Bárbara Lopes da Silva
Mídias sociais Rafael Dias
Colaboraram nesta edição:
Arte Simone Oliveira Vieira
Tradução Ada Felix, Frank de Oliveira, Gabriel Blum, Gabriela Fróes
Revisão Mauro de Barros
Conselho Editorial
Daniela Pinheiro
Eliane Trindade
Gabriel Cardoso
Graciela Selaimen
Graziella Comini
Guilherme Coelho
Marcos Paulo Lucca Silveira
Richard Sippli
Mantenedores Institucionais
Fundação José Luiz Egydio Setúbal
Instituto Sabin
Movimento Bem Maior
Samambaia Filantropias
CIVI-CO | Negócios de Impacto Social R. Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 445 Pinheiros, São Paulo – SP, 05415-030
Quer falar com a SSIR Brasil?
Redação: contato@ssir.com.br
Projetos especiais, publicidade, eventos: marketing@ssir.com.br
Stanford Social Innovation Review Brasil é uma publicação da RFM Editores sob licença da Stanford Social Innovation Review
Editor-chefe Nicholas Jackson
Editora acadêmica Johanna Mair
Editores Aaron Bady, Barbara Wheeler-Bride, Bryan Maygers, David V. Johnson, Marcie Bianco
Editora edições Jenifer Morgan globais
Conselho Consultivo Acadêmico
Paola Perez-Aleman, Universidade McGill
Josh Cohen, Universidade Stanford
Alnoor Ebrahim, Universidade Tufts
Marshall Ganz, Universidade Harvard
Chip Heath, Universidade Stanford
Andrew Hoffman, Universidade de Michigan
Dean Karlan, Universidade Yale
Anita McGahan, Universidade de Toronto
Lynn Meskell, Universidade Stanford
Len Ortolano, Universidade Stanford
Francie Ostrower, Universidade do Texas
Anne Claire Pache, Essec Business School
Woody Powell, Universidade Stanford
Rob Reich, Universidade Stanford
A Stanford Social Innovation Review (SSIR) é publicada pelo Stanford Center on Philanthropy and Civil Society da Universidade Stanford.
Todos os direitos reservados.
CONTEÚDO EXCLUSIVO DO SITE SSIR.COM.BR facebook.com/ssirbrasil
linkedin.com/company/ssirbrasil
@stanford.ssir.br

UMA NOVA ABORDAGEM
ARTIGO | Parques para fortalecer a democracia O poder de uma comunidade de moldar seu ambiente social, cultural e físico é a pedra angular de uma democracia saudável. Com a ruptura causada pela pandemia, reatar esse tecido e restabelecer esse poder requer uma abordagem diferente. Os autores Geneva Vest, Cary Simmons e Howard Frumkin revelam como parques podem ser concebidos para unir a comunidade pela democracia; na foto, projeto do 11th Street Bridge Park, que deve ser inaugurado em 2026, em Washington.
DECOLONIZAR MÉTRICAS…
ARTIGO | Por que racializar o pensamento e a prática da avaliação
No campo da avaliação de programas sociais e políticas públicas, parâmetros podem resguardar filtros excludentes e permissivos, afetando tanto seus resultados como os programas e pessoas que dependem deles. Para que o compromisso com a
verdade se mantenha, é imperativo transformar a prática avaliativa, incorporando a produção intelectual negra. No artigo, Rayane Freitas e Rogério Silva listam recomendações de como fazê-lo.
ARTIGO | Decolonizando a construção de saberes
Uma reflexão sobre a importância da decolonização de saberes no campo filantrópico através do retrato do Programa Saberes, lançado pela Rede Comuá em 2022. Para a organização, o passo primordial na jornada de decolonização da filantropia brasileira envolve aprofundar a reflexão sobre suas práticas históricas, através de constante desconstrução.
RETRATO DO BRASIL
ARTIGO | Intermediários, tradutores da filantropia
Boa parte da filantropia brasileira é praticada pela elite e organizada por meio de
R$ 12,8 bilhões
foi o valor total em contribuições de indivíduos para ONGs
39 organizações
realizam trabalhos de intermediação entre doadores e projetos sociais no Brasil 79,5%
das intermediárias brasileiras estão no eixo Rio-São Paulo
Fonte: Intermediários, tradutores da filantropia
grandes fundações familiares ou empresariais. Diante dessa realidade, escreve Marcello Stella, o papel dos intermediários torna-se, ao mesmo tempo, difícil e imprescindível. De um lado, lidam com organizações sociais tradicionais; de outro, devem agir para convencer os filantropos – no Brasil, a elite – a doar diretamente a essas organizações, que conhecem seus territórios melhor que ninguém.
MOSAICO FILANTRÓPICO
ENTREVISTAS | Faces da filantropia
A filantropia evolui constantemente para abrigar novas narrativas, causas e perspectivas. Ampliando vozes e abordagens, consegue expandir seus efeitos e ressignificar sua prática. Em quatro entrevistas, a cargo da jornalista e cientista social Veronica Deviá, colaboradora do departamento de pesquisa da Fundação José Luiz Egydio Setúbal, a série destaca histórias, trajetórias e iniciativas de pessoas de diferentes países que trabalham pelo impacto nas suas comunidades.
Novas abordagens para a mudança social
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Programa do governo treina camponesas para pilotar drones, aumentando sua segurança financeira e modernizando as lavouras
POR NEHA BHATT
Quando, pouco tempo atrás, o marido de Banita Sharma contraiu uma doença que o incapacitou para o trabalho, o pequeno negócio de conservas dela mostrou-se insuficiente para atender às necessidades da família. São raras as oportunidades de trabalho em sua aldeia, Bado Brahmanan, no estado de Haryana, no norte da Índia – sobretudo para mulheres.
“Foi quando ouvi falar de um novo programa que treinaria mulheres como pilotas de drones”, conta ela. “Teríamos autorização para alugar nossos drones, conseguindo assim uma nova fonte de renda.”
Em novembro de 2023, o governo indiano lançou o programa Namo Drone Didi (didi em hindi significa “irmã mais velha”). As mulheres constituem 65% da força de trabalho no campo, atividade extenuante e mal remunerada. Poucas são donas de terras. O programa Drone Didi pretende integrá-las à economia rural desenvolvendo habilidades, ao mesmo tempo que moderniza a agricultura por meio da tecnologia, aumento da produtividade e cultivo de precisão. O objetivo é treinar 15 mil mulheres para operar drones com finalidades agrícolas, principalmente na aplicação de fertilizantes e pesticidas. Centenas de mulheres já completaram as duas semanas de treinamento, tornando-se aptas a comprar um drone com subsídios de 50% a 80% do valor, mediante um emprés-
Participantes do projeto calibram a bússola de um drone para garantir um voo preciso, durante atividade do treinamento realizado no IIT Mandi
timo a juros baixos oferecido pela financiadora nacional de agricultura – bancos estatais cobrem o restante.
Ministérios estão em contato com organizações educativas, empresas de fertilizantes, coletivos de camponesas, fabricantes de drones e agências de treinamento para implementar o programa no país inteiro. O governo também dotou os próximos dois anos do projeto com 1.261 crores – 1 crore são 10 milhões de rupias, e o total investido equivale a mais de US$ 150 milhões. O custo do treinamento vem sendo amplamente coberto por empresas de fertilizantes, que o bancam porque o projeto utiliza seus produtos nas lavouras.
As aulas de capacitação acontecem em centros especializados em todo o país. Sharma viajava três horas quando fez o curso presencial de duas semanas em Manesar, cidade perto de Nova Déli. O curso era ministrado pela Indian Farmers Fertiliser Cooperative (Cooperativa de Fertilizantes dos Agricultores Indianos – IFFCO), em parceria com a Drone Destination, empresa de treinamento de veículos por controle remoto sediada em Nova Déli.

“Aprendemos regulamento de tráfego aéreo, emprego dos drones, montagem dos aparelhos, carregamento de fertilizantes, simulação de voo e aplicação”, explica Sharma. “Deu para ver quanto a tecnologia reduz o uso de água, o trabalho manual e o custo dos fertilizantes.” Com um drone, cobre-se em menos de dez minutos uma área cuja fertilização manual exigiria de meio dia a um dia inteiro de trabalho.
Aspectos sociais e de gênero trouxeram desafios. “Muitas das mulheres não tinham uma experiência de aprendizagem organizada, nem haviam trabalhado fora”, diz Chirag Sharma, CEO da Drone Destination. “Foi um choque cultural para elas.”
Dentro do programa de conversão de edifícios de Paris, uma antiga garagem deu lugar a 149 unidades habitacionais inauguradas em 2021

Para Somjit Amrit, o Drone Didi tem uma “finalidade superior”. CEO do iHub, centro de inovação do Instituto Indiano de Tecnologia (IIT) em Mandi, no estado de Himachal Pradesh, Amrit acredita que o projeto se presta a “democratizar a tecnologia e banir preconceitos de gênero, capacitando as mulheres a se aventurar para além de suas casas a fim de ter oportunidades educacionais e de emprego”. O IIT Mandi está lançando um programa Drone Didi mais amplo, de dez semanas, em parceria com a National Skill Development Corporation. A ideia é abranger um leque mais vasto de mulheres, tanto da cidade quanto do campo. Para isso, tem aulas em hindi e em inglês e inclui módulos de empreendedorismo, comunicação e liderança.
Shashi Bala, 22, integra o treinamento no IIT Mandi. Ela é a primeira mulher de sua família a estudar e procurar emprego fora de sua cidade, Kangra. “Com a indústria dos drones crescendo rapidamente, estou otimista quanto à possibilidade de iniciar uma carreira nesse setor, ganhar experiência profissional e fundar minha própria empresa”, diz.
Um ecossistema de parcerias vem sendo aos poucos construído em torno do Drone Didi para facilitar o acesso a financiamento e a oportunidades de emprego. As agências do governo e as organizações de treinamento têm elaborado planos com fabricantes de drones e bancos para ajudar na aquisição dos aparelhos. Já a Drone Destination está desenvolvendo um aplicativo para ajudar as mais de 650 mulheres treinadas em 13 estados a se empregarem. Estruturas físicas para manutenção dos drones estão em construção.
Para muitas mulheres como Sharma, o programa ensejou uma significativa mudança social e alimentou sonhos ainda mais ambiciosos. “Sou a primeira de minha aldeia a pilotar drones. Acredito que o programa vai criar uma tendência de mais vagas para mulheres e mudará o modo como somos vistas”, diz ela. O
NEHA BHATT é uma jornalista premiada e escritora, residente em Nova Déli. Aborda temas como política de gênero, saúde pública, direitos humanos, educação, problemas ambientais e cultura.
Para suprir um mercado com baixa oferta, Paris está transformando propriedades vazias em casas
POR CHLOÉ ROUVEYROLLES
Para a maioria dos parisienses, comprar um apartamento é quase impossível. Uma pessoa que queira comprar seu primeiro apartamento na Cidade Luz tem de ganhar ao menos US$ 106 mil por ano – mais que o dobro do salário médio anual de um funcionário de escritório – e dar 10% de entrada para obter financiamento.
Não causa surpresa, portanto, que cerca de 10 mil pessoas deixem Paris todo ano. Quarta cidade mais densa da União Europeia, a capital francesa tem pouco espaço para erguer novos lares.
Diante dessa carência habitacional, a conversão de edifícios não residenciais em moradia vem se tornando cada vez mais comum na capital francesa, ganhando apoio das construtoras públicas e dos políticos locais, inclusive da prefeita, Anne Hidalgo.
O Institut Paris Région começou a acompanhar a tendência em 2013. Passada uma década, ela se tornou uma verdadeira revolução. “Estamos vivendo uma espécie de idade de ouro da moradia social”, diz Stéphanie Jankel, urbanista da Apur, entidade parisiense de planejamento urbano sem fins lucrativos.
Porém, como é comum em revoluções, há desafios. Aqui, o maior é o das plantas. “Não podemos desenhá-las livremente; há muito trabalho técnico preliminar para definir quantas unidades podemos produzir”, diz Hélène Schwoerer, vice-diretora-geral de gerenciamento de projetos na Paris Habitat, empresa de habitação social encarregada da conversão de prédios locais há mais de dez anos.
O processo varia segundo a natureza da propriedade original e as leis de zoneamento, mas sempre exige a colaboração entre
o governo e entidades privadas. Por exemplo, se a cidade destina um prédio público para conversão, contrata uma empresa como a Paris Habitat para supervisionar o processo. Caso o bem não seja público, entregará o trabalho a empresas privadas mediante licitação.
Pessoas com deficiência em evento da NDS realizado em Atlanta, em 2023; Dom Kelly, cofundador e presidente da organização, é o segundo da direita para a esquerda
Outro desafio vem do fato de que proprietários preferem alugar seus imóveis para escritórios do que para fins residenciais. A administração não pode forçá-los a vendê-los ou alugá-los para conversão. Somente o governo federal tem autoridade para regulamentar bens imóveis, embora tampouco possa obrigar um proprietário a vender um prédio vazio. Em 2020, a Apur estimou que 128 mil unidades habitacionais parisienses estavam desocupadas havia mais de dois anos.

Outro problema é o dispêndio de tempo e dinheiro. Segundo algumas empresas do ramo, é mais caro converter do que construir do zero. Para atingir sua meta de ter 40% das moradias acessíveis para baixa renda, Paris tem de dar subsídios às empresas de construção. No nordeste da cidade, a Caserna de Reuilly – um acampamento militar de 1847 – foi transformada em complexo multiúso, com unidades de aluguel para famílias de classe média ou baixa renda, um jardim de infância e um posto de saúde.
“Você não constrói uma cidade pensando em 5, 10 ou 15 anos. O custo e o retorno exigem décadas”, diz Jankel.
Após anos de experimentação, as autoridades públicas locais aperfeiçoaram o processo e agora buscam diminuir o tempo entre projeto, construção e conversão, a fim de recuperar o investimento mais depressa. Sua experiência deu forma aos edifícios erguidos para os Jogos Olímpicos de 2024 nos arredores de Paris. Eles foram concebidos não só para acomodar atletas e jornalistas, mas também para se tornarem casas, escritórios e dormitórios universitários no fim do ano. O
CHLOÉ ROUVEYROLLES é uma jornalista nascida e criada em Paris. Atualmente vivendo em Jerusalém, aborda questões como planejamento urbano na França, na Índia e no Oriente Médio.
ENVOLVIMENTO CÍVICO
A New Disabled South defende justiça e habilitação para pessoas com deficiência no sul dos Estados Unidos
POR MARIANNE DHENIN
Pessoas com deficiências (PCDs) enfrentam sérias dificuldades para participar do processo democrático nos Estados Unidos. A maior parte dos centros de votação em todo o país é inacessível e muitos estados limitam
o voto por e-mail ou baniram caixas para depósito de voto remoto. Mais de 11% das PCDs aptas a votar afirmaram ter encontrado obstáculos no último pleito geral.
Fundada em 2022, a New Disabled South (NDS), organização sem fins lucrativos que advoga por direitos e justiça para PCDs trabalha em 14 estados do sul dos Estados Unidos para eliminar essas barreiras. Com as eleições de 2024 à vista e a repressão eleitoral aumentando na região, a NDS vem operando em diversas frentes a fim de garantir o acesso eleitoral às PCDs, assegurando que suas vozes sejam ouvidas sobre temas importantes.
Embora a eleição de 2024 seja a primeira da organização, seus líderes têm longa experiência em política eleitoral e defesa dos direitos do eleitor. Dom Kelly, cofundador, presidente e CEO da NDS, trabalhou para organizações de defesa dos direitos do eleitor na Geórgia e como consultor-sênior da área de deficiência na campanha de Stacey Abrams ao governo em 2022. Ter visto eleitores com deficiência marginalizados e desprezados até por grupos progressistas o convenceu sobre a necessidade de uma organização voltada para os problemas desse grupo. Ele afirma que não basta que entidades trabalhem pelos direitos das PCDs sem a participação delas. “Sem ter a vivência, você é apenas um observador externo.”
Um dos principais objetivos da NDS é combater os esforços para desabilitar PCDs aptas a votar. As outras prioridades são melhorar os salários no sistema legal, combater a pobreza e garantir acesso aos serviços de saúde. Essas metas encaram problemas que afetam as PCDs de maneira desproporcional: elas são alvos mais frequentes de detenções, encarceramentos e violência policial que as pessoas sem deficiência. O número de PCDs na pobreza também é duas vezes maior que o dos outros. O problema é muito grave no sul, onde mais de 20% da população é de PCDs – a taxa mais alta da nação.
A NDS contratou dez funcionários no primeiro ano – todas PCDs com raízes no Sul. Em fevereiro de 2023, criou uma divisão sem fins lucrativos, a New Disabled South Rising (NDSR).
Entidades filantrópicas, como as fundações Ford e Robert Johnson Wood e a Borealis Philanthropy, foram fundamentais para o crescimento da NDS. O financiamento inicial da NDSR
veio de um doador individual. Em novembro do ano passado, Open Society dotou a organização com verba para dois anos.
Os primeiros esforços da organização incluem uma parceria com a Data for Progress a fim de realizar uma pesquisa em seis estados sobre as percepções dos eleitores a respeito das PCDs e de suas experiências no sul do país. Os resultados servirão de base para um esforço de pesquisa qualitativa em vários outros estados. A NDSR foi também a responsável por fiscalizar a votação de um referendo em Atlanta, Geórgia, para decidir sobre a construção de um centro de treinamento de policiais (estimada em US$ 90 milhões).
De olho no próximo pleito, a NDS está colaborando com organizações não partidárias em prol do registro eleitoral, da educação e da afluência às urnas na região. Ela orientará essas entidades para que “enxerguem as PCDs mais de perto”, diz Lila Zucker, diretora organizacional da NDS O
MARIANNE DHENIN é jornalista e historiadora premiada.
ARTES E CULTURA
O Cast oferece às organizações artísticas um caminho para serem proprietárias de imóveis, proporcionando aos artistas espaço para criar e expor suas obras
POR KYLE COWARD
Durante o boom da tecnologia dos anos 2010, a renda disparou em toda a área da baía de San Francisco –mas o custo de vida também. Ao longo da década, o preço médio do aluguel subiu 24%. Uma comunidade sentiu de forma particular a pressão. Segundo uma enquete de 2015, 70% dos artistas de San Francisco tiveram de sair de suas

casas, ateliês ou de ambos devido ao custo. Oganizações artísticas com escritórios na cidade também foram afetadas. De acordo com a plataforma de dados Statista, os aluguéis de escritórios na área de San Francisco ficam atrás apenas de Manhattan, entre 30 mercados dos Estados Unidos.
Em 2013, o Community Vision (então conhecido como Northern California Community Loan Fund, ou Fundo Comunitário de Empréstimos do Norte da Califórnia) criou o Community Arts Stabilization Trust (Cast), para proteger as organizações artísticas locais de serem expulsas da região da baía em virtude dos preços. O fundo compra, reforma e aluga imóveis abaixo do valor de mercado para pequenas e médias organizações. Após um período de sete a dez anos, elas têm a opção de comprar os imóveis, mas também podem optar por renovar os contratos de aluguel.
“Somos uma organização imobiliária comunitária envolvida com a cultura”, diz Moy Eng, que foi CEO fundadora e diretora-executiva do Cast, hoje consultora da entidade. “Nós administramos e garantimos espaço acessível.”
A Kenneth Rainin Foundation, com sede em Oakland, forneceu ao Cast uma subvenção de US$ 5 milhões em 2013, para os primeiros cinco anos da entidade. Fontes públicas e privadas, como créditos fiscais e subsídios, vêm provendo a continuidade dos fundos.
O Cast atualmente possui investimentos imobiliários em cinco organizações da área da baía, variando de US$ 1 milhão a US$ 6,3 milhões por organização. A CounterPulse, organização sem fins lucrativos destinada a artes experimentais, exemplifica o sucesso do modelo do Cast em San Francisco.
Fundada em 1991, a CounterPulse havia estabelecido sua base no bairro chamado South of Market (SoMA). Mas, em 2012, aluguéis altos forçaram a organização a procurar outro lugar. “Era claro como água que não conseguiríamos rever nosso aluguel pelas taxas favoráveis que tínhamos antes do boom da tecnologia”, diz a diretora-executiva da CounterPulse, Julie Phelps.
No ano seguinte, um consultor conectou a entidade ao recém-formado Cast, que havia comprado e estava reformando um prédio no Tenderloin, bairro vizinho, por US$ 1,3 milhão. O Cast ofereceu à CounterPulse um contrato de aluguel de dez anos, com opção de compra.
Pressionada pelos aluguéis, a organização
CounterPulse fez um contrato com o Cast para alugar uma nova sede e, no ano passado, levantou fundos para comprar o imóvel
A CounterPulse assinou o contrato em 2015 e se mudou no ano seguinte. A organização financiaria melhorias no imóvel durante o período de aluguel e, promovendo uma arrecadação de fundos, levantou os US$ 7 milhões para comprar o prédio em 2023.
Eng descreve o processo de transações imobiliárias e de desenvolvimento como “intensivo”, razão pela qual o Cast se concentra exclusivamente na área da baía. No entanto, sua influência vai além. Partes interessadas mundo afora – de Seattle a Sydney e Londres – já procuraram o Cast para ter consultoria sobre como estimular o mercado imobiliário voltado para comunidades artísticas.
“O que queremos em nossas cidades? O que queremos em nossos bairros? Como podemos intervir para fazer isso juntos?”, Eng pergunta. “Agora estamos em um ponto crítico e essa é a hora em que a mudança é possível.” O
KYLE COWARD é um profissional de comunicação e escritor que vive em Chicago. Ele contribuiu para o Chicago Tribune e para o The Atlantic, entre outras publicações.
No Maláui, Sightsavers trabalha pela educação e contra os estigmas que atingem esse grupo
POR MADALITSO WILLS KATETA
Shelista Banda, 10, nasceu surda. Intimidada por outras crianças por causa de sua deficiência, ela costumava retaliar atirando pedras nelas. Devido ao bullying, a mãe de Shelista, Rose Banda, de 29 anos, não a mandou para a escola, mas se preocupava com a possibilidade de sua filha passar a vida sem educação.
Em 2017, matriculou Shelista, então com 6 anos, no James Centre, que oferece educação para crianças com deficiência no distrito de Ntcheu, região central do Maláui. Lá, a menina passou por terapia para aprender a lidar com sua deficiência. O centro também doou cinco cabras à família, para aumentar sua segurança alimentar e estabilidade econômica.
A educação e os tratamentos mudaram a vida de Shelista. “Minha filha vivia solitária. Isso mudou totalmente”, diz Rose Banda. “Ela agora consegue ajudar em algumas tarefas domésticas e pode socializar com outras crianças.”
No Maláui, mais de 1,7 milhão de pessoas com 5 anos ou mais vivem com alguma deficiência, o que representa mais de 11% da população total. Em todo o mundo, 240 milhões de crianças vivem com deficiência – e, segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, nos países de baixa e média renda, elas ficam fora da escola ou recebem educação de qualidade
inferior. Os maus resultados educacionais atrapalham o desenvolvimento social e a inclusão dessas crianças.
No Maláui, 49 centros de cuidado infantil, entre os quais o que atendeu Shelista, recebem o apoio da ONG internacional Sightsavers, fundada em 1950 por sir John Wilson, defensor da saúde pública britânico que se notabilizou por trabalhar para prevenir a cegueira em países em desenvolvimento. Hoje, a Sightsavers combate a cegueira evitável e busca tratar e eliminar doenças tropicais em mais de 30 países de baixa e média renda na África e na Ásia. Desde 2015, a missão da organização expandiu-se para promover a diversidade, a equidade e a inclusão em saúde, educação, emprego e governança por meio de parcerias com governos e ONGs.
No Maláui, a Sightsavers conduz o programa Inclusive Early Childhood De-
ciência do Maláui (Podcam) e o Escritório de Bem-Estar Social do Distrito de Ntcheu. A finalidade era estabelecer educação igualitária para crianças com deficiência, visando sua inclusão social. O James Centre faz parte dessa iniciativa.
Em um país como o Maláui, onde metade da população vive na pobreza, crianças com deficiência enfrentam circunstâncias particularmente terríveis. Não é raro que elas sejam vistas como amaldiçoadas ou acusadas de bruxaria. Por meio do IECDE, a Sightsavers busca quebrar essas barreiras e garantir que crianças com deficiência tenham oportunidades iguais.
ESTRUTURA DE EMPODERAMENTO
O IECDE surgiu de outro programa da Sightsavers, o Leave No Child Behind (“nenhuma criança fica para trás”), realizado com


velopment Education (Educação Inclusiva para o Desenvolvimento na Primeira Infância, IECDE na sigla em inglês). O IECDE foi lançado em 2020 em colaboração com a ONG Catholic Health Commission (CHC), a Associação de Pais de Crianças com Defi-
sucesso, de junho de 2010 a maio de 2016, em dez centros de educação infantil e pré-escolar no distrito de Ntcheu. O programa estabeleceu parcerias com comunidades locais e o governo para ampliar a matrícula de crianças com deficiência e a conscientização
sobre seus direitos, além de treinar cuidadores e professores em práticas inclusivas. Com o IECDE, a Sightsavers passou a atingir 49 centros de cuidado infantil e ampliou o apoio às famílias e comunidades das crianças. O IECDE também expandiu os esforços de matrícula escolar do Leave No Child Behind para escolas primárias, mirando o aumento da matrícula em seis instituições no distrito de Ntcheu. O projeto é financiado pela Sightsavers e é complementado por doações e subsídios, incluindo uma subvenção de US$ 594 mil da People’s Postcode Lottery, loteria que arrecada fundos para caridade, em 2020. O IECDE busca fornecer às famílias, comunidades e cuidadores o apoio financeiro e educacional de que precisam para garantir que as crianças com deficiência recebam educação de alta qualidade. O apoio alimentar, por exemplo, é crucial. Um relatório do Programa Mundial de Alimentos indicou, em 2023, que os programas de alimentação escolar são a assistência não contributiva mais ampla do mundo para famílias vulneráveis e podem aumentar as taxas de matrícula em 9%.
com deficiência – o que Chikaipa atribui em grande parte ao almoço servido aos alunos.
A educação cívica é a pedra angular dos esforços de empoderamento comunitário do IECDE, que visam mudar as atitudes sociais prejudiciais sobre pessoas com deficiência. O projeto realiza reuniões regulares de sensibilização comunitária sobre questões de deficiência e treina líderes comunitários para se tornarem defensores dos membros da comunidade com deficiência. John Banda, que é chefe local da aldeia de Kawala, diz que esse treinamento também envolve aprender a solicitar recursos e serviços para pessoas com deficiência a organizações. “Agora somos capazes de mobilizar recursos de empresas locais como forma de sustentar o projeto, se a Sightsavers encerrar suas operações”, diz Banda.
A estrutura de empoderamento também inclui educação para cuidadores, com a Sightsavers oferecendo treinamento gratuito para cuidadores e professores. Catherine Hawuya, que nasceu com deficiência e enfrentou barreiras à educação quando criança, decidiu se matricular no treinamento por recomendação de seu chefe de
Crianças com deficiência agora tiram boas notas e podem aprender na mesma sala que os demais
Como fez com a família de Shelista, a Sightsavers doa cabras a famílias tanto para sustento quanto para que as vendam a fim de custear o envio das crianças à escola. Ainda dentro do IECDE, também criou hortas geridas por voluntários, as quais fornecem alimentos para o almoço das crianças nos 49 centros do programa. Os voluntários são treinados para garantir o preparo higiênico e a qualidade nutricional dos alimentos.
“Com a instabilidade alimentar crônica enfrentada pelo país e as instabilidades decorrentes das mudanças climáticas, o componente agrícola do projeto é importante, pois saber que as crianças receberão comida na escola é um atrativo”, diz o coordenador do projeto IECDE, Ben Chikaipa. Desde o lançamento do IECDE, em 2020, o distrito de Ntcheu registrou um aumento de 139% na matrícula escolar de crianças
aldeia, em 2020. Com a capacitação contínua em cuidados infantis oferecida pela Sightsavers, ela agora leciona para crianças com e sem deficiência na mesma sala.
“Crianças com deficiência que tinham baixo desempenho na escola agora tiram boas notas e podem aprender na mesma sala que os demais, sem que haja estigmas e discriminação, como ocorria anteriormente”, diz Hawuya.
A representante da CHC, Maria Mwadzangati, observa que as atitudes sociais em relação às crianças com deficiência se modificaram graças ao guia do cuidador do IECDE – atualmente disponível apenas em versão impressa, em inglês e chichewa (a língua vernacular do Maláui. O livro procura eliminar mitos sobre deficiência e incentivar os pais a enviar seus filhos com deficiência para a escola.
“Antes, as pessoas costumavam associar deficiência a bruxaria e pecados cometidos pelos pais, mas, depois de ler o manual, elas entendem que uma criança com deficiência é como qualquer outra”, diz Mwadzangati.
UMA ESTRATÉGIA DE PARCERIA PARA O CRESCIMENTO
O lançamento durante a pandemia de covid-19, com as escolas fechadas, impôs dificuldades ao IECDE. O início também foi prejudicado por três ciclones, de 2020 a 2022, e pelo mais longo surto de cólera da história do Maláui
Para lidar com esses desafios, a Sightsavers desenvolveu com seus parceiros – a CHC, o Podcam e o Escritório de Bem-Estar Social do Distrito – uma abordagem estratégica em que cada instância supervisiona uma tarefa específica, segundo seus conhecimentos. A Podcam gerencia os direitos das pessoas com deficiência, a CHC é responsável pelas questões de saúde, e o escritório, pelos programas sociais do IECDE. A Sightsavers fornece aos centros de cuidado infantil serviços preventivos, como instalações de lavagem de mãos e cloro para purificação da água. Além disso, doou cadeiras de rodas, quadros de apoio, andadores e cadeiras para paralisia cerebral destinadas a 45 crianças. A organização também envia crianças para avaliação e tratamento com profissionais de saúde, pagando pelos custos decorrentes.
“Esse apoio é muito importante para alcançar a missão da Sightsavers de garantir que crianças com deficiência de famílias desfavorecidas tenham o direito de viver em uma sociedade inclusiva”, diz Chikaipa.
Em abril de 2023, a Sightsavers expandiu o IECDE para 18 escolas primárias no distrito de Ntcheu, a fim de melhorar a atenção à educação continuada das crianças com deficiência que se formaram nos centros de educação infantil e pré-escolar. A expansão aumenta a esperança de que crianças como Shelista terão direito à educação, assim como seus colegas sem deficiência. O
MADALITSO WILLS KATETA é um jornalista freelancer e consultor de mídia baseado em Lilongwe, Maláui. Foi colaborador da Fundação Thomson Reuters, da BBC Future Planet e da Foreign Policy, entre outras publicações.
Uma equipe multinacional está reciclando concreto e tijolos usados para novos edifícios na República Tcheca
POR PAUL HOCKENOS
Ao longo da margem lamacenta do rio Vltava, nos arredores de Praga, três novos edifícios residenciais guardam o que pode vir a ser um novo estágio da arquitetura sustentável. Suas paredes, alicerces, fachadas e pavimentos empregam um material híbrido de qualidade industrial feito a partir da reciclagem de entulho de concreto e alvenaria. O material foi patenteado em 2019 como Rebetong pela Skanska, multinacional da construção que o desenvolveu com a ajuda da União Europeia e de outros parceiros – mas tem sido chamado pela empresa e pelos arquitetos locais de “concreto verde”.
O entulho utilizado nesse caso veio das ruínas de uma usina de açúcar do início do século 20 que antes ocupava o terreno. O complexo de edifícios, batizado de Sugar Factory, em alusão a esse uso anterior, foi projetado pelo estúdio de arquitetura CHYBIK + KRISTOF, com sede em Praga e em Londres.
O projeto total prevê sete prédios com um total de 790 apartamentos, além de um espaço para eventos, uma cervejaria e uma creche, segundo descreve Michal Kristof, fundador do escritório. Os novos edifícios vão usar uma porcentagem maior de Rebetong que os três primeiros. Todos terão painéis solares no teto e usarão água reciclada. Os primeiros moradores se mudam ainda neste ano.
O Circ-Boost, braço da União Europeia que financia pesquisa e inovação, tem US$ 8 milhões para promover soluções circulares ao longo de cadeias de valor da construção no continente. A iniciativa destinou cerca de US$ 400 mil para inovações construtivas aplicadas na Sugar Factory nos próximos quatro anos. Ao lado de outros quatro projetos-piloto do Circ-Boost, a Sugar Factory será um mostruário de novas soluções circulares para construção de edifícios residenciais,


processamento de entulho e redução de emissões.
“Nossa intenção é demonstrar o uso de uma nova tecnologia no ambiente real”, diz Albert de la Fuente Antequera, engenheiro civil da Universidade Politécnica da Catalunha e líder de projeto do Circ-Boost.
O interesse em mirar a sustentabilidade na indústria da construção tem a ver com a impressionante contribuição do setor em termos de emissões de gases de efeito estufa e de consumo de recursos naturais. Só o concreto gera 9% de todas as emissões de CO2 geradas pelo homem. A indústria da construção é responsável por 40% das emissões globais e consome quase metade dos 50 milhões de toneladas de brita, cascalho e areia anualmente extraídos. Além do mais, a indústria da construção responde por 30% do lixo do planeta.
Para atingir seus objetivos climáticos e ambientais, todas as nações deveriam
se debruçar sobre o setor, principalmente sabendo que “um número maior de construções vai surgir na Europa”, adverte José Mercado, da Dena (acrônimo para Agência Alemã de Energia), instituto que estuda a energia limpa. De fato, espera-se que o uso de matéria-prima no setor dobre nas duas próximas décadas.
Para Mercado, é extremamente importante a tendência do concreto sustentável e se assemelha a outros experimentos em que institutos de pesquisa, governos e União Europeia colaboram. As diversas parcerias da Sugar Factory mostram claramente como esse tipo de colaboração pode funcionar e dar resultados que agentes isolados ou mesmo cooperações menores não conseguiriam produzir.
UMA SUBSTITUIÇÃO DURÁVEL
A reciclagem e reutilização de concreto e tijolos não é novidade, já tendo sido usada, por exemplo, para pavimentar
rodovias. A questão é que esse concreto reciclado não tinha a mesma qualidade daquele obtido com materiais virgens, preferido na construção de edifícios, sendo menos durável e flexível. Seu tempo médio de vida era de 30 anos, metade do padrão, e, por ser mais suscetível a infiltrações, apresentava mais rachaduras.
Não é, porém, o caso do Rebetong, afirma Bohuslav Slánský, da Slanska. “Os testes revelaram que, mesmo com uma proporção de materiais reciclados de até 100%, a mistura final tem um desempenho similar ao do concreto convencional.”
À diferença de seus predecessores, o Rebetong contém um nanoaditivo criado pela extinta empresa tcheca ERC-TECH.
do concreto comum. Após os testes pelos laboratórios da Universidade Técnica de Praga (UTP), os projetistas do Circ-Boost pretendem repassar os dados para centenas de outras empresas de construção e desenvolvimento, tanto na Europa quanto em outras regiões. Esperam que essas empresas venham a adotar soluções circulares parecidas, em particular misturas de concreto à base de materiais recicláveis, como o Rebetong.
O Rebetong usado nos projetos tchecos, contudo, ainda não é totalmente circular. Ele existe hoje em diferentes graus, e as misturas com menor quantidade de mate-
O grande empecilho é convencer as pessoas do ramo a pensar na construção de um modo totalmente diferente
Em 2018, essa empresa entrou em contato com a Skanska para apresentar uma substância granulada fina que revelara, em testes, ter excelente capacidade de, misturada a cimento, aglutinar entulho reciclado formando um concreto de alta durabilidade. A Skanska adquiriu o nanoaditivo e o aperfeiçoou, contando com um apoio de 2 milhões de coroas tchecas (US$ 90 mil) do Ministério da Indústria da República Tcheca para isso.
A matriz da Skanska na Suécia anuncia o Rebetong como um produto que substitui 100% dos agregados naturais por concreto e/ou entulho reciclável. “Essa abordagem circular permite que novos edifícios sejam construídos de outros prédios que já encerraram seu ciclo de vida.” Em seu relatório de sustentabilidade de 2019, a Skanska também declara que a produção do Rebetong emite 12% a menos de carbono – sobretudo devido à redução nos custos de transporte – e apresenta maior retenção de calor, o que aumenta a eficiência energética do prédio.
Albert de la Fuente Antequera espera que o Rebetong logo se torne um concreto plenamente funcional, com 100% de material reciclável, que possa ser produzido a baixo custo com o mesmo equipamento
rial reciclado podem ser empregadas mais amplamente que em elementos construtivos que requeiram maior elasticidade. O Rebetong usado nas primeiras estruturas da Sugar Factory continha de 25% a 50% de materiais recicláveis. Nos laboratórios da UTP, graus maiores alcançaram resultados positivos. Neste ano, a Sugar Factory empregará Rebetong contendo de 50% a 75% de agregado reciclável.
Embora os resultados do Rebetong no local tenham sido semelhantes aos do concreto comum, a Skanska constatou que, no frio, ele endurecia mais lentamente que o padrão, o que atrasou a obra no inverno do ano passado. Isso levou a Skanska a alterar a composição para chegar a uma mistura que endurece com a mesma rapidez que o concreto convencional.
Outro desafio é a escassez de entulho de alta qualidade para a fabricação do Rebetong. Os restos de demolição que muitas vezes vão parar em aterros têm pouco valor de reciclagem. Por exemplo, devido ao mau estado dos velhos tijolos da usina de açúcar, apenas uma porcentagem mínima deles pôde ser incorporada ao Rebetong usado no complexo habitacional.
Para que a produção de “concreto verde” – e a construção circular em geral –
funcione, as demolições precisam seguir certos procedimentos, como a separação meticulosa de lixo segundo seu tipo e o posterior envio aos centros de reciclagem ou aos compradores comerciais, nunca aos aterros.
As próprias demolições devem ser realizadas de maneira muito diferente de como ocorrem hoje, a fim de possibilitar a coleta de entulho aproveitável. É fundamental que haja mais centros de reciclagem e comércio de materiais de construção usados, a fim de implantar a visão de uma economia circular na Europa, afirma José Mercado.
A despeito de suas qualidades inovadoras, o Rebetong sem dúvida enfrentará o ceticismo do mercado de materiais de construção. “As emissões da indústria de construção e o uso indiscriminado de recursos são tão óbvios que qualquer passo dado em direção à sustentabilidade pode resultar em ganhos significativos”, explica Mercado. Na Europa, acrescenta ele, o setor de construção está aderindo à economia circular muito lentamente, embora seja uma preocupação básica nos planos de proteção climática da União Europeia.
Segundo ele, um dos maiores obstáculos reside no fato de a indústria da construção ser notoriamente conservadora e apegar-se ao conhecido. “O grande empecilho é convencer as pessoas do ramo a pensar na construção de um modo totalmente diferente”, afirma.
O próximo passo da Skanska será aumentar a quantidade de concreto reciclado no Rebetong e concluir o projeto Sugar Factory, para depois iniciar outros projetos de construção na República Tcheca. A empresa pretende fazer novos experimentos com misturas de cimento alternativas, visando diminuir ainda mais a presença de carbono no concreto.
A equipe de Albert de la Fuente Antequera vem acompanhando tudo de perto, confiante em que o reaproveitamento de concreto haverá de transformar para melhor o setor de construção global. Centenas de construtoras internacionais estão aguardando os resultados do Circ-Boost. O
PAUL HOCKENOS é um escritor residente em Berlim que cobre os temas da energia e do clima. É autor de cinco livros sobre empresas europeias.
Com programa de treinamento e apoio, empresa social Take2 ajuda na reinserção de ex-presidiários
POR RINA DIANE CABALLAR
Osistema de reabilitação de presidiários na Nova Zelândia está falido. A taxa de encarceramento do país, de 173 por 100 mil pessoas, é mais alta que a de muitos países desenvolvidos. A vizinha Austrália, por exemplo, tem 158 por 100 mil, enquanto a Noruega, com população numericamente comparável à da Nova Zelândia, tem 52. A taxa de reincidência também é elevada: cerca de 57% dos que deixam a prisão voltam a delinquir em dois anos, e 36% são novamente presos após dois anos de liberdade. A pesquisa mostra que o emprego reduz a reincidência, mas ex-presidiários encontram grandes obstáculos para trabalhar, como a exigência de inserir qualquer condenação criminal em seus currículos, o que de cara os desqualifica.
Cameron Smith testemunhou a dificuldade para empregar egressos do sistema prisional quando trabalhou como consultor de recrutamento da empresa Michael Page em Auckland, em 2013. “Eles tentam recomeçar, mas a sociedade coloca inúmeros entraves, trate-se de uma infração cometida há um mês, há um ano ou há uma década”, diz ele.
Ao assumir um posto de gerência numa empresa de investimento de impacto, ainda em Auckland, anos depois, constatou que havia muitas oportunidades no setor tecnológico, mas poucos talentos e falta de diversidade. Com base nisso, perguntou-se se não seria possível suprir essa carência com pessoas que desejavam uma segunda oportunidade na vida.
Isso o levou a fundar a Take2 em 2019. Empresa social, a Take2 oferece a presidiários um programa de treinamento de 9 a 12 meses, no qual aprendem a trabalhar com a internet e adquirem habilidades sociais como coleguismo e comunicação. A Take2
fez parcerias com grandes empresas de tecnologia da Nova Zelândia, como a Rush e a Datacom, a fim de facilitar o emprego de membros do programa. Parcerias são decisões estratégicas, explica Smith, pois dão credibilidade ao projeto. “Há também a boa estrutura, o bom treinamento e o bom suporte oferecidos por uma organização maior, o que é um ótimo ponto de chegada para nossos formados em busca de trabalho”, afirma ele. As parcerias são mutuamente benéficas porque os parceiros contratam os formados pela Take2 a fim de suprir a carência de talentos tecnológicos – e isso amplia tanto a diversidade quanto os esforços de inclusão, pois metade dos encarcerados na Nova Zelândia são maoris ou ilhéus do Pacífico.
O programa da Take2 tem duas fases: após o treinamento profissional fornecido durante a prisão, seguem-se dois anos de suporte já na fase de reinserção dos egressos. O treinamento consiste em aulas de pro-
gramação em código e outras tecnologias digitais, além de seminários técnicos e palestras motivacionais proferidas por parceiros empregadores.
“Algo que realmente anima os detentos é ouvir de parceiros empregadores que vão às aulas na prisão: ‘Sabemos de onde vocês vieram e que cometeram erros; mas isso não os impedirá de ter uma carreira em nossa firma ou no setor técnico’”, explica Smith. Outra parte essencial do programa é o currículo de habilidades práticas. Dylan Wiggill, ex-facilitador de aprendizado da Take2 que ajudou a projetar o curso, desenvolveu uma abordagem que ensina aos alunos técnicas de autocontrole, como concentração e meditação, bem como habilidades necessárias ao trabalho em equipe – inclusive colaboração, flexibilidade e mentalidade progressista –, a fim de facilitar seu convívio no ambiente de trabalho. “É gratificante entrar numa prisão todos os dias e ver um grupo de homens se esforçando para alcançar sozinhos esses grandes objetivos – quando voltam para as ce-


las, eles organizam grupos de estudos, fora dos horários de aula”, diz Wiggill. “Isso dá à minha vida um propósito maior.”
A primeira experiência de um ano da Take2 começou em outubro de 2020 na prisão de Auckland South, com dez participantes, três dos quais foram contratados pelas parceiras da Take2 após libertados. Um dos formados, que pediu para permanecer anônimo, trabalha hoje como inspetor de qualidade na Datacom. “O que aprendi no programa da Take2 me ajudou em muitas instâncias da vida”, diz ele. “Agora consigo lidar melhor com situações novas e obtive sucesso tanto em áreas pessoais quanto profissionais. As habilidades de comunicação que me foram ensinadas na Take2 per-
habilidades”, diz o egresso hoje funcionário da Datacom. “Isso não só ajuda na reintegração social e diminui as oportunidades de reincidência como também aumenta as probabilidades de encontrar emprego estável e de levar uma vida produtiva.”
A equipe da empresa tem 13 pessoas, contando com um conselho administrativo (do qual Smith faz parte), um conselho consultivo e cinco funcionários em tempo integral. Um dos formados agora faz parte do quadro consultivo, que colabora no projeto do curso e sugere melhorias. Os graduados também beneficiam a sociedade: graças às habilidades de codificação aprendidas no programa, dois dos formados criaram a Ngā Mihi, uma plataforma
A Take2 espera diminuir a reincidência na Nova Zelândia e apontar o caminho para um sistema de reinserção melhor
mitiram que eu mantivesse relacionamentos positivos no ambiente de trabalho.”
A Take2 foi fundada com capital próprio de Smith e hoje é totalmente financiada por organizações filantrópicas, incluindo as fundações Spark e Simplicity e o J. R. McKenzie Trust. Os parceiros também doaram computadores e recursos para a criação e a implementação da infraestrutura de TI nas salas de aula dos presídios. “Há tempos nosso mantra é atrair para a TI pessoas que normalmente não iriam para essa área”, explica Karl Wright, diretor de informações da Datacom, um dos parceiros da Take2. “Mas não estamos fazendo isso porque é bom para o nosso relatório de diversidade e inclusão. Ajudar a mudar vidas é uma coisa séria. A razão fundamental para fazer isso é acreditar, de fato, que as pessoas merecem uma segunda oportunidade.”
Os alunos que terminam o curso recebem apoio para se reintegrar à sociedade, que vai de ajuda para tirar documentos de identidade e abrir contas bancárias até fornecimento de computadores, telefones e acesso à internet, além de orientação profissional e aconselhamento pessoal.
A Take2 oferece “apoio consistente, programas para mudança de comportamento e oportunidades de aprendizado de novas
digital na qual membros da família e amigos podem comprar para os detentos itens essenciais pré-aprovados, como meias e roupa íntima.
Segundo Smith, fundar a Take2 foi difícil porque as partes interessadas – fundadores, parceiros de emprego e a prisão – relutavam em se envolver se não houvesse consenso prévio. Foi preciso tempo para gerar confiança e estreitar o relacionamento com eles. Por exemplo, persuadir empresas de tecnologia a empregar formados pela Take2 foi um verdadeiro desafio por causa do estigma da ficha criminal. Ele insistiu em combater essa tendência dos parceiros pedindo-lhes que mudassem suas percepções, fossem mais abertos e dessem aos formados pela Take2 uma oportunidade.
No decorrer do programa-piloto, a Take2 descobriu uma falha no esquema de treinamento: alguns alunos recebiam a liberdade no meio do curso e não o completavam. E, no início da pandemia de covid, em 2020, a empresa teve de encontrar uma maneira de manter o programa em meio às medidas preventivas do governo, que incluíam limitação do acesso aos presidiários. Para contornar essas dificuldades, a equipe mon-
tou um centro comunitário em Auckland, com salas de aula para aqueles que tinham sido libertados no meio do programa ou que estavam em prisão domiciliar, prestando serviços comunitários ou em liberdade condicional para continuar sua educação e completar o programa.
A Take2 tem atualmente 25 participantes – 12 no centro comunitário e 13 na Auckland South –, mas pretende ampliar esse número, com a expansão do programa por toda a Nova Zelândia. A equipe trabalha em planos de expansão com o Departamento Correcional, inclusive em presídios femininos.
Em 2023, a Take2 lançou o Take2 Elevate, que oferece serviços empresariais, como projetos de sites e aplicativos na internet, além de avaliação e manutenção de softwares. O empreendimento vai além, abrindo possibilidades de emprego para ex-presidiários ao contratá-los como aprendizes. O lucro obtido é usado tanto para cobrir os custos operacionais da Take2 e da Take2 Elevate quanto para remunerar os aprendizes.
O pessoal da Take2 Elevate segue um modelo misto: profissionais seniores da indústria ensinam e treinam os formados pelo programa da Take2, como parte de seu aprendizado, enquanto uma equipe mais numerosa é composta de formados que trabalham como prestadores de serviços para empresas ainda na dúvida quanto a contratar os egressos da Take2 como funcionários em tempo integral.
“É uma oferta tentadora para empregadores que hesitam em dar esse primeiro passo”, explica Smith. “Se a coisa não funcionar, podemos trazer os formados de volta à Elevate e encontrar algo mais adequado para eles.”
Smith espera que a Take2 diminua a reincidência na Nova Zelândia e aponte o caminho para um sistema de reinserção melhor. Tão valioso quanto essa mudança no sistema é o impacto na vida real daqueles que estiveram na prisão.
“Saber que as pessoas com quem trabalhamos estão se saindo bem na indústria e retribuindo o que receberam não tem preço”, diz ele. “Nada se compara à sensação de empreender essa jornada com eles e vê-los obtendo sucesso.” O
RINA DIANE CABALLAR é jornalista na Nova Zelândia, especializada em tecnologia e em suas interseções com a ciência, a sociedade e o meio ambiente.
Um olhar profundo para o interior de uma organização
Nas últimas duas décadas, a Fundação Jed luta contra a crise de saúde mental que aflige jovens nos Estados Unidos. Sua história destaca a importância de abordar as causas culturais desse fenômeno, por meio da mudança de sistemas POR ALISON BADGETT
EM OUTUBRO DE 2021, UMA CRISE DE DÉCADAS FEZ DISPARAREM, ENFIM, OS ALARMES OFICIAIS: “Testemunhamos taxas crescentes de desafios de saúde mental”, dizia a Declaração de Emergência Nacional em Saúde Mental Infantil e Adolescente, escrita em conjunto pela Academia Americana de Pediatria, a Associação de Hospitais Infantis e a Academia Americana de Psiquiatria da Criança e do Adolescente. Um alerta do cirurgião-geral dos Estados Unidos, Vivek Murthy, veio na sequência, afirmando que o futuro do país dependia da mitigação da crise de saúde mental dos jovens. Ambas as declarações ressaltaram as tendências de longo prazo por trás do aumento dos problemas de saúde mental durante a pandemia de covid-19 Segundo uma pesquisa nacional da Healthy Minds Network, em 2013, apenas 17% dos universitários americanos relataram sentir ansiedade. Esse número subiu para 31% em 2018 e, no mesmo período, as taxas de depressão relatadas cresceram 68%. Em 2019, um em cada três alunos no ensino médio descreveu sentimentos
Por que publicamos este texto
O crescimento de índices de depressão e ansiedade e de suas consequências atinge também o Brasil. O texto apresenta uma iniciativa que, ao entender o problema em suas múltiplas instâncias, inspira caminhos para promover uma mudança sistêmica.

persistentes de tristeza e desesperança, incremento de 40% em relação a 2009, e um em cada seis estudantes afirmou ter um plano de suicídio, um aumento de 44% para o mesmo período. As taxas de suicídio cresceram 57% entre jovens de 10 a 24 anos, entre 2007 e 2018.
Como explica o alerta do cirurgião-geral, esses números não são o resultado de uma maior conscientização ou de relatórios isolados. Além do estresse acadêmico, os alunos de hoje sentem diferentes pressões de problemas sociais que parecem insolúveis, como mudanças climáticas, violência armada, racismo e desigualdade de renda. Além disso, sofrem os efeitos das mídias sociais, que, em um comunicado subsequente, Murthy destacou como algo que dobra o risco de problemas de saúde mental para o adolescente médio.
A pandemia exacerbou a crise de saúde mental e expôs sua dinâmica entre os jovens. “O isolamento, o deslocamento e o sofrimento dos jovens podem não ter sido uma surpresa para os médicos de saúde mental de crianças e adolescentes, mas, para o resto do público, a covid lançou luz sobre essas coisas”, diz o defensor da saúde mental e ex-deputado Patrick Kennedy.
A Fundação Jed (JED) é a mais proeminente organização sem fins lucrativos a lidar com essa questão nos Estados Unidos. Seu CEO, John MacPhee, recorda ter ouvido de um financiador, nos primeiros meses da pandemia: “Muito dinheiro vai ser investido em saúde mental a partir de agora – não para apoiar organizações sem fins lucrativos que lutam para sobreviver, mas para as que estão à altura do momento. Vocês estão?”. MacPhee respondeu que sim. Nos dois anos seguintes, a JED foi de 40 para 80 funcionários, atuando em 450 faculdades para ajudá-las a lidar com questões de saúde mental. A fundação também lançou programas paralelos para escolas de ensino médio, distritos escolares e faculdades comunitárias e foi um braço de desenvolvimento de políticas. Impulsionada por uma concessão de US$ 15 milhões de MacKenzie Scott em 2022, a JED pretende triplicar o número de alunos do ensino superior que cobrirá nos próximos anos, com o objetivo de apoiar mais de 50% das faculdades e universidades do país.
Gestores universitários veem a saúde mental como seu problema número um, diz Kevin Kruger, presidente da Naspa, a associação de administradores de assuntos estudantis no ensino superior. Kruger frisa que, em um contexto inundado por empresas rentáveis oferecendo serviços como terapia online, a JED se destaca por sua trajetória de 25 anos. “John [MacPhee] pode pegar o telefone e falar com qualquer presidente de faculdade porque eles têm essa consciência e confiança”, diz.
O histórico da JED a colocou em posição de capitalizar a obrigação, imposta pela pandemia às escolas, de rever como e por que deveriam apoiar a saúde mental dos estudantes – não apenas ampliando a escuta para aqueles em crise, mas também criando uma
cultura de cuidado e um sistema de prevenção. Apesar de seu alcance, a JED está apenas no início da consagração do bem-estar do estudante no ambiente educacional. Para a fundação, sucesso total implica uma mudança de perspectivas e práticas de alunos, funcionários, professores e administradores em cada campus, além da transformação dos sistemas nos quais estão inseridos.
Desde seu surgimento, em 2000, a JED incentivou faculdades a utilizar programação baseada em pesquisa, políticas e estratégias de conscientização pública, em um conjunto abrangente para proteger a saúde emocional estudantil e prevenir o suicídio. Ao longo de duas décadas, a fundação percebeu que, para obter impacto máximo, deveria aplicar tais estratégias diretamente, e não por meio de intermediários. Hoje, a JED emprega uma estrutura holística de mudança de sistemas que pode servir de modelo para outras organizações.
O MODELO DA FORÇA AÉREA
DONNA E PHIL SATOW perderam seu filho Jed em 1998. Ele se suicidou durante as férias de fim de ano com a família, ao fim de seu segundo ano na Universidade do Arizona. “Não podíamos imaginar que o suicídio fosse fazer parte da nossa vida, do nosso futuro”, diz Donna. “Então, quando aconteceu, ficamos completamente arrasados. Não dava para acreditar.”
Criado na bucólica Princeton, Nova Jersey, Jed era o caçula de três filhos em uma família feliz e unida. Era inteligente, engraçado e querido por seus amigos. Durante o ensino médio, às vezes se mostrava retraído, impulsivo e raivoso – mas nada que parecesse fora do comum para um adolescente. Ele tinha dificuldades de aprendizagem, o que pesou para a escolha da Universidade do Arizona, conhecida por ter um programa de apoio acadêmico para alunos nessa condição.
“Na verdade, não sabíamos nada sobre suicídio”, diz Donna –ainda que Phil, como vice-presidente-executivo da Forest Laboratories, trabalhasse com psiquiatras. “Falamos muito sobre drogas e prevenção de seu uso, em um nível bem básico”, diz ela. “Mas não sobre prevenção de suicídio, ou depressão na adolescência.”
No caso de Jed, teria ajudado saber que existe relação entre dificuldades de aprendizagem e depressão e que ela costuma se manifestar como raiva na adolescência. “Começamos a pensar que não estávamos sozinhos. Não poderíamos ter sido os únicos.”
Pesquisando, os Satows descobriram que o suicídio era a segunda principal causa de morte entre estudantes universitários. “Tínhamos que saber o que havia acontecido. Como evitar que algo assim aconteça? Porque é uma tragédia evitável”, diz Donna.
Eles buscaram respostas na vida de Jed na universidade. Descobriram que muitas pessoas estavam preocupadas com ele – amigos, professores e os membros de sua fraternidade. Se as pessoas do
Phil e Donna Satow, que fundariam a JED, descobriram que o suicídio era a segunda principal causa de morte entre estudantes universitários. “Tínhamos que saber o que havia acontecido. Como evitar que algo assim aconteça? Porque é uma tragédia evitável”, diz ela
A JED e a MTVU lançaram a campanha Half of Us. O nome se referia a um dado de pesquisa: 50% dos estudantes universitários tinham ansiedade e depressão em um grau que atrapalhava sua vida pessoal ou acadêmica
seu entorno soubessem o que deviam procurar e como intervir, teria sido possível identificá-lo como alguém em risco agudo. Os pais se reuniram com o reitor da universidade, que ficou emocionado enquanto falava: “O que vocês gostariam que eu fizesse, em uma escola com mais de 30 mil alunos?”. Os pais deixaram a reunião decididos a responder a esta pergunta.
Começaram convocando especialistas em suicídio em Washington, D.C. A equipe incluiu Lanny Berman, diretor-executivo da Associação Americana de Suicidologia; o professor David Brent, da Universidade de Pittsburgh, especialista em psiquiatria infantil e adolescente; a psicóloga clínica Kay Redfield Jamison, autora do livro de memórias Uma mente inquieta (WMF Martins Fontes, 2001); e representantes do Centro de Recursos de Prevenção ao Suicídio (SPRC, no acrônimo em inglês). O grupo identificou um modelo promissor implementado pela Força Aérea dos Estados Unidos, que reduziu números de suicídios, bem como as taxas de homicídio e violência doméstica. A abordagem foi abrangente e empregou estratégias integradas, incluindo treinamento, educação, serviços de prevenção, políticas e protocolos, com o objetivo de criar uma cultura de cuidado.
Tudo isso encorajou os Satows a considerar a adaptação do modelo aos campi universitários. Como a Força Aérea dos Estados Unidos, faculdades e universidades são comunidades circunscritas, que têm sua própria estrutura de liderança e cultura, políticas e constituintes. Dessa forma, eles ofereceram um caminho para proteger a saúde emocional e prevenir o suicídio.
A ABORDAGEM ABRANGENTE DA JED
DO IS ANOS APÓS A MORTE DE SEU FILHO, os Satows criaram a Fundação Jed, visando conceber e tornar pública uma estrutura para a prevenção do suicídio nos campi universitários que se baseasse na abordagem testada pela Força Aérea. Desde o início, a abrangência foi uma preocupação: não lhes interessava alcançar umas quantas faculdades no país, mas, sim, mudar a cultura e a prática de todas elas. Em colaboração com o SPRC, desenvolveram o que se tornou a “Abordagem Abrangente da JED para Promoção da Saúde Mental e Prevenção do Suicídio para Faculdades e Universidades”. O protocolo inclui sete estratégias principais e dezenas de táticas correlatas Duas dessas estratégias se concentram na proteção da saúde emocional: a primeira é o desenvolvimento de habilidades para a vida; a segunda, a promoção da conexão social.
Habilidades para a vida, como resiliência, coragem, cuidados com a saúde física e capacidade de regular a emoção, têm correlações com a saúde mental e o sucesso acadêmico. As táticas aplicadas a elas vão de treinamento de atenção plena a incentivo a exercícios, dando a todos os estudantes acesso gratuito a uma academia. Pesquisas mostram que a solidão e o isolamento aumentam o risco de problemas
de saúde mental. Programas de equidade e inclusão ajudam a promover a conexão social, enquanto o treinamento de orientadores residenciais e acadêmicos age para alcançar os mais isolados. A terceira e a quarta estratégias se concentram na promoção da intervenção precoce: identificar alunos em risco e incentivar a busca de ajuda. A maioria dos estudantes que cometem suicídio não têm acesso a tratamento. Entre as táticas nesse sentido, está a capacitação das pessoas que interagem com os alunos, como orientadores acadêmicos, professores e outros estudantes, para reconhecer e encaminhar para terapia os que precisam de apoio, além de implementar ferramentas de triagem para saúde mental e abuso de substâncias nos serviços de atenção primária à saúde. A JED recomenda campanhas de conscientização para desestigmatizar a busca por ajuda e para divulgar serviços oferecidos nos campi.
Para que a intervenção seja bem-sucedida, é preciso que haja tratamentos adequados disponíveis. Assim, a quinta estratégia se volta para o fornecimento de serviços de saúde mental e de combate ao uso abusivo de substâncias. As táticas correlatas a essa estratégia incluem ampliar o horário de funcionamento de clínicas e a vinculação de estudantes a cuidados de longo prazo na comunidade. As escolas também devem disponibilizar serviços voltados para gerenciamento de crises, a sexta estratégia. As táticas para isso podem ser eventuais; por exemplo, apoio a alunos após um suicídio, ou ações de suporte contínuo, como uma linha direta 24 horas. O meio mais seguro para prevenir o suicídio continua sendo restringir os meios para que ele se concretize, como limitar acesso ao topo de edifícios, a medicamentos de uso restrito e a armas, nos lugares onde estas são permitidas – esta é a sétima estratégia da JED.
“Levei algum tempo para entender a importância de uma abordagem de saúde pública para a questão”, diz Hollie Chessman, diretora de pesquisa e prática do Conselho Americano de Educação (ACE, na sigla em inglês). “Faculdades e universidades querem uma resposta fácil”, diz. “Uma grande vantagem do modelo da JED é tornar mais digerível tudo de complexo que tem de acontecer em um campus.”
“Infelizmente, a JED foi fundada porque Jed sucumbiu”, diz Kruger, da Naspa, para quem “a abrangência do modelo” é o que diferencia a fundação, além de sua dupla atenção, dirigindo recursos para profissionais e estudantes. “Gestores nos campi lutam para alcançar os alunos. É o que eu tenho visto ao longo de 45 anos de carreira.”
MARKETING PARA ESTUDANTES
EM 2004, RON GIBORI, que fora companheiro de fraternidade de Jed e que participou do surgimento da fundação, deu uma ideia importante para vincular os estudantes à entidade nascente: usar a MTVU, braço universitário do canal a cabo, como veículo de aproximação. A MTV tinha acabado
de realizar a campanha Rock the Vote e sabia mobilizar os jovens em torno de uma mensagem importante. Gibori e Donna Satow começaram a tentar envolver a emissora. Para isso, contaram com a ajuda de um membro do conselho da JED, Larry Lieberman, que havia sido vice-presidente de marketing da MTV Music Service.
Apesar do interesse inicial da MTV, lançar uma campanha nacional custaria muito dinheiro para uma organização sem fins lucrativos, nova, cujas despesas totalizavam US$ 450 mil na época. Mas os Satows podiam recorrer a uma poderosa rede profissional e pessoal, graças ao trabalho de Phil na indústria farmacêutica. Em seu loft no SoHo, em Manhattan, para onde se mudaram após a morte de Jed, promoveram palestras de nomes proeminentes. Na noite em que receberam o escritor e jornalista Fareed Zakaria, um convidado fez uma doação de US$ 1 milhão.
Em 2006, a JED e a MTVU lançaram a campanha Half of Us. O nome se referia a um dado de pesquisa: 50% dos estudantes universitários tinham ansiedade e depressão em um grau que atrapalhava sua vida pessoal ou acadêmica. Metade dos entrevistados também não sabia onde obter ajuda em seu campus e 70% disseram que tinham vergonha de perguntar. A campanha contou com vídeos de estudantes e celebridades, como Mary J. Blige, que compartilharam suas histórias, em um esforço para desestigmatizar e normalizar a busca de ajuda. Os vídeos levavam a um site com ferramentas e recursos de triagem.
“Fãs vieram nos dizer que essas histórias literalmente salvaram suas vidas”, diz Noopur Agarwal, que ingressou na MTV em 2007 como vice-presidente de impacto social. “Artistas que pareciam ter tudo também lutavam contra pensamentos suicidas.” Em 2008, a Half of Us ganhou um Peabody Award e uma indicação ao Emmy. “Foi realmente uma mudança cultural na forma como pensamos e falamos sobre saúde mental”, diz Agarwal, que qualifica de “únicos” os esforços da JED nesse sentido.
Ao longo dos anos, a JED lançou outras campanhas, como Love Is Louder (O amor fala mais alto), de 2010, novamente com a MTV, em resposta ao bullying online, e Seize the Awkward (Abrace o esquisito) em 2018, em parceria com a Fundação Americana de Prevenção ao Suicídio e o Ad Council [entidade sem fins lucrativos que promove o uso de marketing em campanhas sociais].
Embora muitas vezes organizações sem fins lucrativos se baseiem em suposições de suas equipes para criar campanhas de conscientização, a JED costuma usar pesquisas de mercado. Em uma enquete para a Seize the Awkward, por exemplo, descobriu que quase todo jovem de 16 a 24 anos tem um amigo com problemas de saúde mental, mas reluta em compartilhar essa informação com quem pode ajudar, temendo trair a amizade. A Seize the Awkward se destinou a orientar esses jovens sobre como ajudar

os amigos a obter o apoio necessário. Em 2023, 50% dos jovens ouvidos em um rastreamento de impacto do Ad Council disseram conhecer a Seize the Awkward e se mostraram significativamente mais propensos que os que não conheciam a iniciativa a conversar com um amigo sobre as dificuldades dele (80% contra 67%), a encorajar um amigo a procurar ajuda profissional (68% contra 50%) e a entrar em contato com uma linha direta (47% contra 27%).
LUTANDO PARA CRESCER
EM 2010, UMA DÉCADA APÓS SUA FUNDAÇÃO, a JED havia alcançado um lugar de destaque em seu campo. Seu orçamento operacional, porém, ainda era de apenas US$ 1 milhão ao ano, e sua equipe contava com seis pessoas. Embora fosse ágil e atuante, não estava nem perto de alcançar a meta de ter sua abordagem em todos os campi do país. Oferecia os melhores recursos, baseados em evidências, mas dependia das faculdades para implementá-los. Ainda que a equipe da JED tivesse uma forte reputação com os departamentos de orientação, não era tão bom seu relacionamento com as lideranças das faculdades –presidentes e reitores de assuntos estudantis, cujo envolvimento ativo seria fundamental para implantar as estratégias. Além disso, a maioria dos apoiadores, seu conselho e financiadores, tinha alguma ligação com os Satows.
Phil e Donna começaram a pensar sobre o futuro da JED e qual seria a melhor forma de sustentar e ampliar seu impacto. Phil pediu então que um ex-colega avaliasse a situação. Em 1995, John MacPhee havia sido contratado por ele como vice-presidente
de marketing da Forest Laboratories e lá tinha supervisionado o lançamento de medicamentos para depressão e ansiedade. Ao procurá-lo para falar sobre a JED, Phil sabia que MacPhee planejava migrar para a área de saúde pública.
Quando jovem, MacPhee queria se formar em engenharia, mas teve problemas quando era estudante na Universidade Columbia. Perdeu um semestre por faltar às aulas, incapaz de lidar com um quadro que hoje ele vê como de ansiedade e, talvez, depressão. Conseguiu reencontrar o eixo com a ajuda de pessoal atento na universidade. Quando quis voltar à universidade, uma empresa farmacêutica estava disposta a pagar por isso.
“Eu trabalhei duro, passo a passo, para mostrar meu valor”, diz MacPhee. Em 20 anos, foi das vendas farmacêuticas a cargos de chefia. Até que disse “ok, seja lá o que eu tinha que provar, já provei”. Ele começou a sentir que sua carreira se resumia a “ganhar dinheiro e bônus trimestrais e favorecer o lucro”, mas que não estava de fato “trabalhando para melhorar o sistema de saúde”.
MacPhee se matriculou no mestrado em saúde pública de Columbia e passou a fazer parte de conselhos de entidades sem fins lucrativos. Quando Satow pediu a ele que pensasse sobre o futuro
candidatos, atraindo mais estudantes em busca de apoio à saúde mental. A fundação esperou até que houvesse mais de 30 escolas qualificadas para divulgar os selos de aprovação.
AINDA QUE ESTIVESSE SATISFEITO COM O ALCANCE de seu programa, MacPhee via um padrão preocupante: todas as faculdades certificadas tinham recursos acima da média da maioria. “Parecia haver uma questão de equidade com relação ao selo de aprovação. Ainda não sabíamos que intervenções programáticas deveriam ser feitas.”
MacPhee e sua equipe começaram a conversar com a Poses Family Foundation, instituição filantrópica com sede em Nova York voltada para dificuldades de aprendizagem e capacitação para organizações sem fins lucrativos. Sua presidente e fundadora, Shelly London, instigou a JED a pensar se seu foco era conhecimento ou mudança. “Ela dizia: não dá para fazer as escolas implementarem isso como você quer sem se tornar uma organização de mudança”, lembra MacPhee.
“Dados são particularmente úteis ao trabalho de equidade”, diz Michelle Mullen, diretora de design e impacto da JED. “Eles nos permitem não só ouvir o que as pessoas pensam que está acontecendo, mas também o que parece estar funcionando, ou não, do ponto de vista do aluno”
da JED, ficou ansioso para ajudar. Ele via a fundação como uma pioneira no campo da saúde mental juvenil, capaz de conduzir o campo em novas direções.
Uma nova iniciativa que a fundação pretendia lançar o deixou especialmente intrigado. Tratava-se de um programa de certificação que, mediante um processo de avaliação, daria um selo da JED às faculdades que implementassem sua estrutura de saúde mental em sete partes. No entanto, também achava que a fundação era pequena demais para ter um impacto de larga escala. Recomendou que a fundação se comprometesse a arrecadar pelo menos US$ 10 milhões ao ano e se ofereceu para ser CEO, caso o conselho aceitasse esse compromisso. Eles o fizeram, e MacPhee assumiu em 2011. De cara, MacPhee pressionou para expandir a missão de forma a atingir não só universitários, mas também adolescentes e jovens adultos em geral. Ele achava que uma missão mais inclusiva era especialmente importante à luz dos dados que mostram que as taxas de suicídio são mais baixas entre universitários do que entre não universitários da mesma idade.
Ele também deu início à operação para o programa de certificação. Em 2013, 65 faculdades foram avaliadas quanto à sua fidelidade à estrutura proposta pela fundação. No entanto, algumas das escolas que podiam receber o selo – em especial as mais prestigiosas – não queriam reconhecimento público. Todas as escolas que contrataram a JED queriam ajudar seus alunos da melhor forma, mas questões de saúde mental ainda não eram amplamente discutidas. Alguns temiam que a certificação pudesse mudar o espectro dos
Assim como ele, Shelly London chegou ao setor não rentável após uma carreira corporativa de sucesso – no caso dela, focada na estratégia de recuperação e na mudança de cultura. “A comparação pode não ser muito boa, mas é como se eles fossem uma empresa familiar”, diz London a respeito de sua primeira impressão da JED. “Era quase como se fosse uma firma de um só dono em um momento crítico.”
Ela se dedicou a entender qual era a visão dos líderes da JED e quão dispostos eles estavam a mudar para alcançá-la. “Eu os achei ótimos, porque eram curiosos. Vi sua mentalidade de crescimento, sua vontade de experimentar e de sair da zona de conforto. Eles queriam impacto.”
Phil Satow lembra que sua meta era trabalhar com 4.000 instituições. “Por isso, queríamos um modelo que pudéssemos replicar sem ter que visitar escola por escola.” Por fim, estabeleceram uma abordagem consultiva, na qual a JED avalia o estado das políticas e práticas do campus com relação à sua estrutura de sete partes, fornece assistência técnica direcionada à melhoria de áreas prioritárias e oferece suporte na forma de treinamento, por meio de um consultor do campus, ao longo de quatro anos.
O programa JED Campus foi lançado em 2014 com dois consultores. Em 2018, atingia 200 campi. Naquela época, as instituições já promoviam publicamente seu envolvimento com a fundação. MacPhee diz que essa construção se deu de forma “lenta e constante”, enquanto, ao mesmo tempo, os desafios de saúde mental ficavam cada vez mais agudos.
ÀMEDIDA QUE A DEMANDA PELO JED CAMPUS CRESCIA, também crescia o financiamento da fundação, permitindo-lhe subsidiar instituições com recursos limitados. Em 2017, a JED tinha uma receita de US$ 5 milhões e, em 2018, ela saltou para US$ 9 milhões, graças a uma doação multimilionária da Pivotal Ventures. O objetivo era ajudar a ampliar a escala da JED por meio de avaliação aprimorada e infraestrutura relacionada.
“Eles disseram: o JED Campus é um programa muito promissor, mas achamos que ainda não se provou eficaz”, lembra MacPhee. O objetivo era que coletassem dados com mais rigor, para que estivessem prontos para ganhar escala a partir de 2020.
“Foi um processo muito orgânico”, diz Michelle Mullen. Diretora de design e impacto da JED, Mullen ingressou na fundação em 2014, depois que a Poses Family recomendou a criação desse cargo. “Percebi que escolas diferentes talvez estivessem recebendo coisas diferentes, mas chamando-as por um nome só. Realmente, assim não era possível crescer”, diz ela. Com o tempo, a JED padronizou o planejamento, o suporte e a avaliação de campus. Com isso, elementos antes tratados como opcionais, como um plano estratégico voltado para a saúde mental no campus e a realização da pesquisa Healthy Minds entre os alunos, tornaram-se pré-requisitos para as faculdades ingressantes no programa.
A pesquisa Healthy Minds foi desenhada para captar ansiedade e depressão, taxas de ideação suicida, solidão, uso de substâncias e utilização de serviços, bem como a percepção dos estudantes sobre o estigma associado a problemas de saúde mental no campus. Além disso, também coleta informações demográficas, permitindo que a JED avalie como a identidade afeta a saúde mental dos alunos, quem acessa os serviços e quem se sente integrado à vida no campus. Uma análise dos dados da Healthy Minds em escala nacional detectou que as taxas de problemas de saúde mental eram semelhantes nos diferentes grupos étnicos, mas que estudantes brancos eram muito mais propensos a procurar tratamento. Os não brancos também se demonstravam mais isolados.
“Esses dados são particularmente úteis ao trabalho de equidade”, diz Mullen. “Eles nos permitem não só ouvir o que as pessoas pensam que está acontecendo, mas também o que parece estar funcionando, ou não, do ponto de vista do aluno.” Em 2017, a JED se associou ao fundo Steve [dedicado ao bem-estar emocional de jovens não brancos] a fim de produzir uma Estrutura de Equidade em Saúde Mental. O documento traz medidas para lidar com as disparidades raciais reveladas pela Healthy Minds, como a contratação de terapeutas não brancos e a oferta de cuidados orientados a diferenças culturais.
Após uma autoavaliação básica de políticas
e práticas no campus, a pesquisa com os estudantes e uma visita de um consultor, a JED analisa as faculdades em cada um dos sete domínios de sua estrutura, usando uma escala de quatro pontos. Essa avaliação, por sua vez, informa o desenvolvimento de um plano estratégico, que prevê avanços faseados em cada domínio. O plano serve de base para que o consultor do JED Campus oriente, com a ajuda de especialistas da fundação, a implementação da estrutura e analise os progressos a cada trimestre. Ao longo do processo, o consultor tem reuniões mensais com lideranças apontadas pela instituição para esse fim; elas gerenciam equipes interdisciplinares responsáveis pelo desenvolvimento e implementação de prioridades estratégicas. Essas equipes podem incluir, por exemplo, representantes de segurança pública e de edifícios e terrenos, além de membros dos escritórios da reitoria e outras chefias.
Jen Jacobsen, diretora-executiva do Centro Laurie Hamre de Saúde e Bem-Estar do Macalester College em St. Paul, Minnesota, diz que essa abordagem interdisciplinar – “um plano de quatro anos para construir não só a colaboração dentro do campus, mas também a construção de coalizões com parceiros do campus” – foi o que atraiu sua instituição para o programa. Em sua opinião, uma abordagem colaborativa é fundamental para institucionalizar a mudança, que assim não depende de um único indivíduo ou departamento.
Audrey Seligman se formou no Macalester College e hoje atua como especialista em promoção da saúde na faculdade. Ela liderou uma equipe interdisciplinar destinada a reduzir os meios de suicí-

Zainab Okolo, vice-presidente sênior para a área de políticas públicas, advocacy e relações governamentais da JED, durante fala de abertura de conferência da fundação em outubro de 2023, em Washington
Sem esse envolvimento sustentado, pode ser difícil para uma instituição implementar um plano estratégico. O campus rural da Universidade do Tennessee (UT) em Martin contratou a JED em 2021 após um suicídio. Na época, Martin era o único campus da UT que não fazia parte do programa da fundação. Jenifer Hart, coordenadora clínica de serviços de saúde e orientação estudantil da instituição, é uma das líderes do JED Campus na UT Martin. A prioridade na UT Martin foi melhorar a comunicação com o corpo discente sobre os recursos de orientação disponíveis e criar uma resposta formal à crise e uma linha direta 24 horas. Ambos foram avanços fundamentais, diz Hart, que, no entanto, se mostra desapontada por não terem feito mais progresso em outros elementos de seu plano estratégico. Hart gostaria de implementar iniciativas vigentes no campus principal da UT, em Knoxville. “Mas eles têm muitos recursos e funcionários”, diz ela. “Essa é a nossa maior desvantagem.”
Os
A maioria das etapas de ação recomendadas pela JED não são caras, mas são demoradas. Nenhum membro do JED Campus consegue cobrir totalmente os sete domínios ao longo dos quatro anos de envolvimento com a fundação. Macalester, por exemplo, concluiu o programa em 2021, mas ainda procura educar a comunidade do campus sobre a relação entre saúde mental e uso de substâncias, em um estado que recentemente legalizou a cânabis. “É uma maratona”, diz Jacobsen. No fim do terceiro ano, as faculdades repetem a autoavaliação e a pesquisa com os alunos, o que permite à JED acompanhar as mudanças nas políticas e práticas e analisar a relação entre mudanças sistêmicas e os resultados estudantis em um campus e em todo o portfólio de afiliados do JED Campus. Darcy Gruttadaro, diretora de inovação da National Alliance on Mental Illness (Nami), acredita que as lições da JED podem beneficiar um campo mais amplo. No mesmo ano em que a JED foi fundada, Gruttadaro ingressou na Nami como diretora do Centro de Ação para Crianças e Adolescentes. “Gostaria que eles fizessem pesquisas sobre o impacto de seus programas, para tornar público o que funciona e apoiar outras organizações [...] na expansão desse trabalho.”
preliminar desses dados mostra que os resultados melhoram na proporção dos avanços no plano de estratégias. Entre os impactos significativos, em termos estatísticos, estão melhor conhecimento dos recursos de saúde mental; menos vergonha de buscar ajuda; e taxas reduzidas de ansiedade, depressão, ideação suicida e tentativas de suicídio.
Analisando os dados, Mullen constatou, com surpresa, que nenhuma das mudanças pesa mais do que outra para os resultados. “É o efeito acumulado que muda o corpo discente”, explica. As taxas de graduação e de retenção estudantil também melhoraram com a implementação de um plano do JED Campus. “Se os alunos se sentem melhor, eles se saem melhor.”
OCOMPARTILHAMENTO DE DADOS que mostram a relação entre saúde mental e sucesso educacional e institucional é particularmente importante para professores e funcionários, que talvez não vejam a interdependência entre sua missão educacional e os objetivos de saúde mental. Jacobsen usou os dados da Healthy Minds para ajudar o centro de ensino e aprendizagem de Macalester a entender esse elo. Por exemplo, a pesquisa revelou uma correlação entre estudantes com desafios financeiros e o número de dias em que seu desempenho acadêmico foi afetado pelo estresse emocional. Esses
membros da área acadêmica podem se sentir despreparados para apoiar os alunos, mas fizeram a opção por trabalhar com jovens em um ambiente universitário – não, por exemplo, em um think tank
dados indicam a importância de o corpo docente conhecer os alunos, diz Jacobsen, a fim de orientá-los para os recursos apropriados. “Pode ser que encaminhar para orientação não seja a resposta correta sempre”, diz ela.
“Mesmo que houvesse um orientador para cada aluno em crise, isso não resolveria o problema, que é sistêmico”, diz Chessman, do ACE. Para ela, “a verdadeira mudança não vai acontecer sem o apoio do lado acadêmico”. Por esse motivo, Chessman acha que a JED deveria colocar entre suas prioridades “aprimorar a mensagem” para professores e reitores.
Em um campus “todo mundo está na linha de frente da crise de saúde mental”, afirma Kruger, da Naspa. “Ninguém entrou para essa área pensando que teria esse papel, mas, cada vez mais, faz parte do trabalho.” Os membros da área acadêmica podem se sentir especialmente despreparados para apoiar os alunos, mas fizeram a opção por trabalhar com jovens em um ambiente universitário – não, por exemplo, em um think tank, diz Kruger. “As pessoas não percebem o impacto positivo de uma simples conversa.”
Em 2020, a fundação divulgou uma avaliação abrangente das mudanças sistêmicas observadas nas faculdades que adotaram o JED Campus e deve lançar um relatório de acompanhamento sobre os resultados estudantis. De acordo com Mullen, a análise
Na opinião de Kruger, o Guia do corpo docente para apoiar a saúde mental do aluno da JED é um recurso valioso. Jacobsen também ajudou a desenvolver recomendações de como o corpo docente pode favorecer o bem-estar dos estudantes com técnicas de “baixo esforço”. Um exemplo é colocar as entregas de tarefas para dio na instituição. Os departamentos residencial, de operações e manutenção e de segurança pública analisaram com ela o campus, a fim de restringir os meios de suicídio em 45 locais diferentes. A JED os orientou a respeito do que procurar, e a equipe usou essa informação de base para desenvolver um plano abrangente. “Ter grandes ideias é fácil, mas se não atentarmos, a implementação sempre recai sobre a equipe de saúde e bem-estar”, diz Jacobsen. “Muito do trabalho da JED depende de entender que, em um campus, a saúde mental é trabalho de todos.”
as 21h, a fim de desencorajar madrugadas em claro. “Cuidar do bem-estar do aluno não pode parecer uma carga adicional”, diz ela. O corpo docente “não quer, não está qualificado e não esperamos dele que faça trabalho de orientação”. Mas desafios comunitários exigem uma resposta comunitária, argumenta.
Jacobsen se lembra de ter ouvido, certa vez, o diretor médico de Macalester dizer: “E se a faculdade somasse para o bem-estar? E se você fosse para a faculdade e esperasse florescer e aumentar sua compreensão do seu bem-estar?”. Jacobsen diz que pensou que, embora não seja possível orientar os alunos nesse sentido, pode-se, nos campi “ter uma enorme influência sobre a cultura em que nossos estudantes vivem; isso exige que professores, funcionários e administradores priorizem o bem-estar do aluno”.
Além disso, com o aumento dos problemas mentais durante a pandemia e da conscientização gerada sobre tendências de longo prazo, os estados começaram a fazer investimentos significativos em saúde mental, com implicações tanto para o ensino escolar quanto para o superior. Zainab Okolo, que ingressou na JED em 2023 como vice-presidente sênior para a área de políticas, advocacy e relações governamentais, está ciente da importância de fazer um uso sábio desses fundos e comprovar o impacto a fim de sustentar o financiamento. Muitas vezes, como ela bem sabe, a política é aprovada e mal implementada.
“Não para ser assim quando se trata de saúde mental e prevenção do suicídio, ou os dados continuarão a ser vergonhosos”, diz Okolo. Com sua infraestrutura programática e avaliativa, a JED está excep-
A JED precisa poder contar com outras pessoas para ajudar os jovens a ter agência sobre a realidade. Em parte, o sucesso depende de que parceiros transmitam aos alunos um compromisso cívico à altura do momento que vivemos
Kruger diz admirar que a JED não apenas se preocupe em ajudar estudantes em crise, mas também procure propor uma “abordagem de bem-estar” para todos, o que ela define como “ajudar os adolescentes a gerenciar a vida à sua frente, o que inclui mídias sociais, exames, estresse e todo tipo de questão”.
EXPANDINDO PARA A ESCOLA REGULAR E FORMULADORES DE POLÍTICAS
PARTE DA “ABORDAGEM DE BEM-ESTAR” da JED é dedicada a alcançar os alunos antes que entrem na faculdade. Após cinco anos contemplando essa mudança, em 2021 a fundação lançou um programa paralelo para escolas de ensino médio. Assim como aconteceu em 2013 com o JED Campus, o interesse inicial na JED High School veio de escolas particulares ricas. Mas nessa nova ocasião a JED não só pretendia chegar a escolas públicas desde o início como também tinha a capacidade de arrecadação e o marketing necessários para isso. A fundação recebeu doações de vários financiadores para implementar a JED High School em diversos estados.
A JED logo reconheceu que a nova escala – 24 mil escolas de ensino médio – exigia uma abordagem diferente. Levaria tempo demais atingir uma por uma e, além disso, a autoridade dos diretores de escola é menor que a de um presidente de faculdade. A fundação teria de trabalhar no âmbito das jurisdições escolares para ter sucesso. Em 2023, a fundação anunciou uma colaboração com a AASA (acrônimo em inglês para Associação dos Superintendentes de Escolas) para elaborar uma Abordagem Abrangente em Nível Escolar. Uma década antes, desenvolver a infraestrutura para avaliar e melhorar o impacto sistêmico nas universidades havia levado anos; no nível escolar, porém, a JED pôs o modelo à prova desde o início. Por meio de um processo de solicitação de proposta, selecionou escolas em 16 regiões, em áreas rurais, urbanas e suburbanas de 14 estados, para participar de um projeto-piloto de quatro anos; os resultados servirão de base para a ampliação de escala do programa.
cionalmente capacitada a fornecer feedback sobre desenvolvimento de políticas, implementação, avaliação de impacto e advocacy.
Pensando nisso, em agosto de 2023 a JED lançou uma colaboração de aprendizagem com a Associação Estadual de Diretores Executivos de Ensino Superior (SHEEO). A JED e a SHEEO selecionaram cinco estados, por meio de solicitação de propostas, para participar de um projeto de 15 meses destinado a desenvolver e implementar políticas estaduais de saúde mental estudantil, compartilhando com outros estados as descobertas e recomendações.
O envolvimento da JED com políticas públicas não foi precipitado. Até recentemente, eles achavam que não tinham a escala suficiente para causar impacto. MacPhee acabou tomando essa decisão, conta Mike Satow, que se tornou presidente do conselho da fundação em 2023, assumindo o cargo de seu pai. Diante da experiência limitada do conselho no campo do advocacy, o apoio foi “mais uma vez no espírito de ‘vamos tentar e ver no que dá’”, diz Satow. “E os resultados foram muito positivos.” Agora a JED está envolvida também em discussões de políticas federais, colaborando com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, o Conselho de Política Doméstica da Casa Branca, a Administração de Serviços de Abuso de Substâncias e Saúde Mental (SAMHSA) e a Rand Corporation, entre outros. Eles também estão trabalhando em prol de alguns projetos de lei federais, como o Kids Online Safety Act e a legislação que incentiva as escolas a implementar um planejamento abrangente de saúde mental semelhante ao JED Campus.
PARTE DE UMA AGENDA MAIS AMPLA
AINDA QUE A JED CONSIGA alcançar cada escola e faculdade do país, fatores determinantes da crise de saúde mental podem permanecer inalterados e fora de seu controle. “Muitas organizações de saúde mental se dedicam a apoiar e alimentar seus membros; a JED tem uma abordagem muito mais holística e se vê como parte de uma equipe”, diz o ex-deputado Patrick Kennedy.
Também aqui, a questão se agrava com peso desproporcional para os mais jovens, como apontam os dados
SUICÍDIO E AUTOLESÕES
• De acordo com um estudo desenvolvido pelo Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde (Cidacs/Fiocruz Bahia), em colaboração com pesquisadores da Universidade Harvard, a taxa de suicídio entre jovens cresceu 6% ao ano no Brasil de 2011 a 2022. Já as taxas de notificações por autolesões na faixa etária de 10 a 24 anos aumentaram 29% anualmente no mesmo período
• O número foi maior que na população em geral, na qual a taxa de suicídio teve crescimento médio de 3,7% ao ano e a de autolesão, de 21% ao ano, no mesmo intervalo
ANSIEDADE
• Pela primeira vez na história, os registros de ansiedade entre crianças e jovens superam os de adultos, segundo dados da Rede de Atenção Psicossocial (Raps) do Serviço Único de Saúde (SUS) de 2013 a 2023
• Com um crescimento expressivo nos últimos anos, a taxa de pacientes de 10 a 14 anos atendidos pelo transtorno de ansiedade é de 125,8 a cada 100 mil, e a de adolescentes, de 157 a cada 100 mil. Entre pessoas com mais de 20 anos, a taxa é de 112,5 a cada 100 mil, considerando dados de 2023
• Foi em 2022 que a situação dos mais jovens passou a ficar mais crítica do que a dos adultos
• Segundo o SUS, entre meninas de 10 a 14 anos houve uma alta maior em casos de suicídio e em internações de lesões do tipo, cujas notificações passaram a ser obrigatórias em 2011. Atendimentos de depressão tiveram alta de 663% nessa faixa etária; para meninos da mesma faixa etária, o incremento foi de 301%
• Em relação à ansiedade, o aumento foi de 398% para meninas dessa faixa, ante 251% dos meninos. No grupo de 15 a 19 anos, só em casos de suicídio o aumento foi maior entre homens
• A Pesquisa Nacional de Saúde feita pelo IBGE mostra que a incidência de depressão cresceu em todas as faixas etárias entre 2013 e 2019, anos com dados disponíveis
• Entre pessoas de 18 a 21 anos, a taxa de depressão passou de 2,47% para 6,23%, aumento de 152,5%
• Para os indivíduos com 22 anos ou mais, a taxa aumentou de 8,12% para 10,57%, crescimento de 30,2%
• Além disso, de acordo com pesquisadores da Pontifícia Universidade Católica do Chile, o Brasil tem as mais altas taxas de depressão em toda a América Latina. Em média, cerca de 12% dos latinoamericanos apresentarão a doença ao longo da vida, enquanto no Brasil esse número é de 17%
A JED faz parte do Alinhamento para o Progresso, grupo lançado por Kennedy em 2023 para reunir stakeholders variados –profissionais que lidam com saúde mental e abuso de substâncias, defensores, líderes empresariais, seguradoras, agências governamentais e políticos – em torno de uma estratégia “90-90-90 em 10 anos”: fazer com que 90% dos americanos sejam rastreados para problemas de saúde mental, que 90% dos necessitados recebam tratamento e que 90% consigam levar vidas plenas.
“Praticamente todos os jovens hoje dizem alguma variante de ‘estou completamente estressado/com raiva/deprimido ou ansioso por causa de tiroteios em escolas/mudanças climáticas/perda de direitos reprodutivos/violência policial/racismo/microagressões’ etc. E embora eu não me sinta bem, acho minha reação normal. O mundo está pegando fogo”, diz McPhee. A JED pode ajudar os alunos a lidar com o impacto emocional da realidade, mas a organização precisa poder contar com outras pessoas para ajudar os jovens a ter agência sobre isso. Em parte, o sucesso depende de que os parceiros nas escolas e universidades transmitam aos alunos um compromisso cívico à altura do momento que vivemos.
Alguns psicólogos argumentam que o impacto negativo das mídias sociais dos jovens supera outros fatores causadores de ansiedade e depressão. Também nesse caso, a resposta não é apenas mudar os hábitos dos estudantes e as práticas das empresas de mídia social, mas inclui formar futuros líderes de tecnologia
que sejam éticos, em vez de tentar sair de crises evitáveis na base da regulação. As escolas podem partir dos ensinamentos da JED para auxiliar os estudantes a refletir e melhorar seu bem-estar, inspirando-os e preparando-os para melhorar o bem-estar de outras pessoas fora de seus campi. Essas pautas se retroalimentam. Em outro alerta divulgado pelo cirurgião-geral dos Estados Unidos, Vivek Murthy, falou sobre a “epidemia de solidão” que se estende à idade adulta americana. “Nada é mais fundamental para a saúde e o bem-estar das pessoas em nosso país do que garantir que estejamos construindo uma base moral e espiritual que norteie nossas interações com os demais. Servir é um dos maiores antídotos para a solidão.”
Mais de uma pesquisa mostra que a confiança no ensino superior está em baixa. De certa forma, o meio universitário enfrenta a mesma questão feita à Fundação Jed há 15 anos: você é uma organização voltada para o conhecimento ou para a mudança? Pode ser útil às universidades buscar um modelo abrangente de educação no serviço público, reconhecendo desde o início o que a JED teve que aprender ao longo do caminho: conhecer e abraçar os requisitos para a mudança não muda os resultados dos estudantes; uma abordagem voltada para a mudança sistêmica, sim. O
ALISON BADGETT é reitora associada de serviço público e diretora do Centro de Serviço Público Priscilla King Gray do MIT.
POR MARK KRAMER E STEVE PHILLIPS
Ilustrações de Adams Carvalho
Avanços espetaculares na escala e na sofisticação da filantropia estratégica nos Estados Unidos não bastaram para melhorar as condições da população país afora. Propomos um novo modelo – a filantropia de empoderamento – que promova a autodeterminação política e econômica e ajude indivíduos a buscar suas próprias soluções e a garantir uma plena democracia multirracial
O MODELO AMERICANO DE FILANTROPIA AJUDOU A CRIAR E A MANTER ALGUMAS DAS INSTITUIÇÕES ACADÊMICAS, CULTURAIS E MÉDICAS MAIS RENOMADAS DO MUNDO. Já na hora de resolver os desafios mais críticos da sociedade, a filantropia estratégica – iniciativas filantrópicas destinadas a encontrar soluções definitivas para problemas sociais – é de uma incrível ineficácia. Embora nos últimos 40 anos o volume de doações filantrópicas nos Estados Unidos tenha crescido exponencialmente, a maioria dos problemas sociais ou ambientais continua sem solução – quando não pior. A nosso ver, o problema da filantropia estratégica nasce de uma série de suposições que há mais de um século pautam a atividade filantrópica no país. A saber: que beneficiários da ajuda filantrópica são incapazes de solucionar os próprios problemas, que grandes doadores têm conhecimento e incentivo para resolver os inúmeros desafios da sociedade e que o setor social é uma alternativa eficaz ao governo na construção de uma sociedade equitativa e sustentável. É cada vez mais evidente que essas premissas estão equivocadas. Indivíduos são capazes de melhorar a própria situação com pequenas transferências incondicionais de renda e o apoio da comunidade.1 Grandes doadores em geral não têm a vivência para entender os problemas que buscam resolver e podem evitar soluções mais sistêmicas que minem sua própria riqueza e privilégio.2 Só o governo consegue abordar problemas socioambientais em escala nacional.
Por que publicamos este texto
Os autores colocam em xeque uma abordagem na qual apostaram e que é vastamente adotada no Brasil; por isso mesmo, convocamos atores do meio filantrópico nacional a responder a seus argumentos, contextualizando as críticas do artigo..
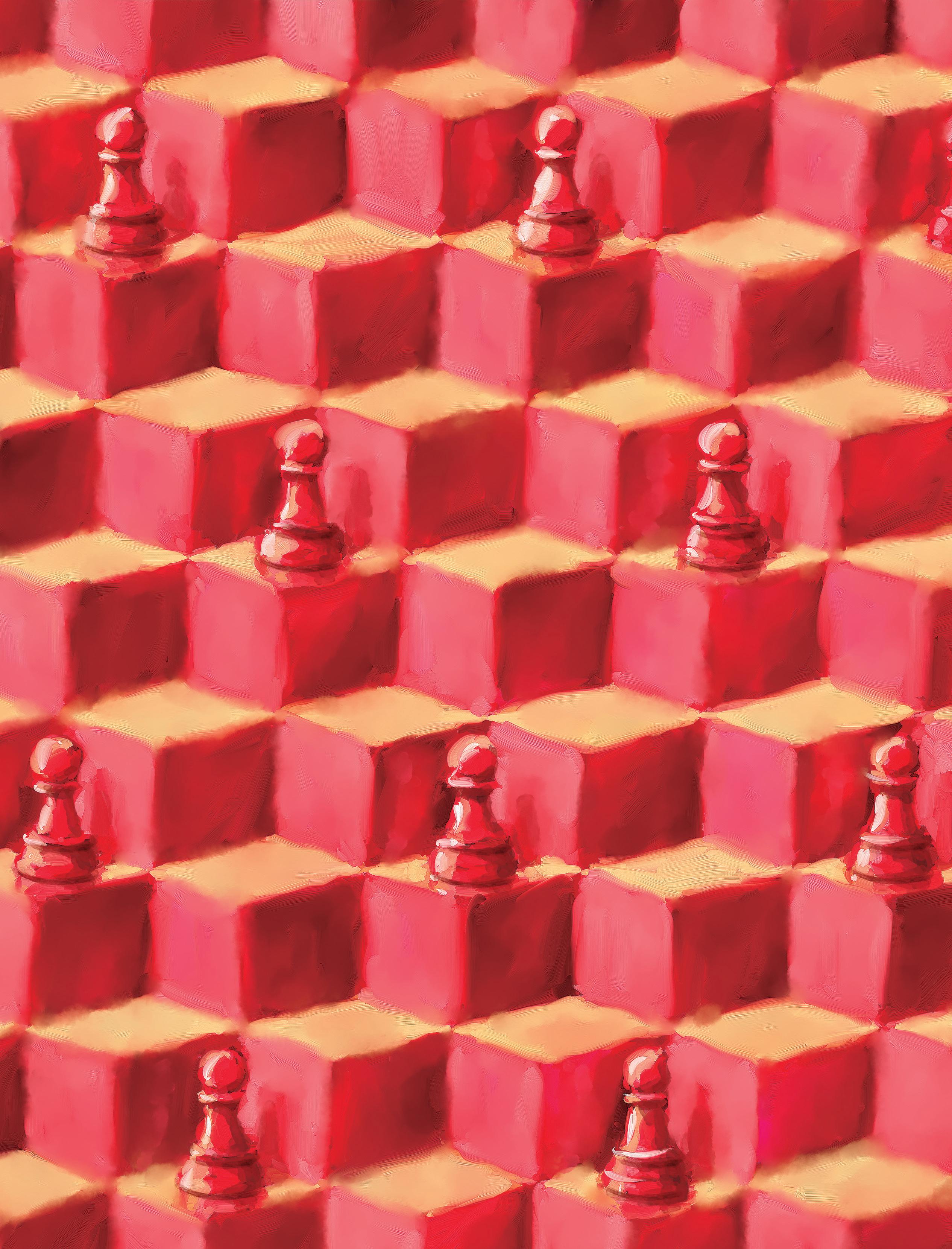
Não há como compensar com filantropia a incapacidade do governo americano de satisfazer as necessidades de todos. Isso posto, iniciativas recentes de engajamento mostram que a filantropia pode, sim, mobilizar eleitores e preparar a população para eleger governos mais representativos. A filantropia também pode promover a autodeterminação por meio de programas de renda básica universal (RBU), da facilitação econômica e de mudanças peer-driven que contribuam para o sucesso do indivíduo e que ao mesmo tempo neutralizem narrativas sociais destrutivas que impedem o progresso. Essa abordagem, que chamamos de filantropia de empoderamento, exigiria um profundo descolamento do modelo atual de filantropia estratégica, que deixa nas mãos de financiadores descobrir, avaliar e expandir soluções inovadoras a serem implementadas por organizações sem fins lucrativos. Filantropos precisam descobrir como garantir autonomia econômica e política a esses indivíduos para que tomem suas próprias decisões e celebrar esses êxitos para inspirar outros – conquistando um papel muito mais central para um progresso socioambiental amplo e duradouro.
Como defensores e praticantes de longa data da filantropia estratégica, essa não é uma constatação fácil. Há mais de 25 anos Mark estuda, divulga e dá consultoria sobre meios de tornar a filantropia mais eficaz; Steve e sua mulher Susan [Sandler, morta em 2022, de câncer] doaram somas importantes a iniciativas filantrópicas.
estrutural e outras formas de discriminação preservam o statu quo e como narrativas sociais falsas – explicações racistas e sexistas para justificar esse estado de coisas – podem confundir filantropos.3
Em muitas áreas, porém, efeitos imediatos de leis, políticas de governo e decisões judiciais parecem superar em escala iniciativas filantrópicas. Nos Estados Unidos, o Affordable Care Act e medidas emergenciais durante a pandemia, por exemplo, deram mostras da capacidade do governo de aliviar o sofrimento e a pobreza de milhões de pessoas. No extremo ideológico oposto, políticos e juízes conservadores, ao lado da iniciativa privada, conseguiram reverter décadas de progresso social em questões como equidade racial, direitos reprodutivos, direitos LGBTQ+, pobreza, trabalho infantil, controle de armas, garantias eleitorais e normas ambientais. Esses efeitos convenceram Mark de que a filantropia jamais seria capaz de criar uma sociedade mais equitativa e sustentável sem reconhecer suas limitações e aumentar seu envolvimento no processo político. Ele procurou Steve após ler seu livro mais recente, How We Win the Civil War, que trata da necessidade e da oportunidade de criar uma verdadeira democracia multirracial. Seu objetivo era entender melhor como a filantropia poderia influenciar a política.
Steve é conhecido por suas colunas para The Nation e The Guardian e por ter tido seu Brown Is the New White entre os bestsellers do New York Times. No livro, questiona a obsessão por mobi-
A abordagem que chamamos de filantropia de empoderamento exigiria um profundo descolamento do modelo atual de filantropia estratégica. Filantropos precisam descobrir como garantir autonomia econômica e política a esses indivíduos para que tomem suas próprias decisões e celebrar esses êxitos para inspirar outros
No papel de curador de três pequenas fundações familiares e conselheiro de várias organizações sem fins lucrativos, além de coordenador de congressos de doadores durante dois mandatos à frente da Jewish Funders Network, Mark passou a refletir sobre a função da filantropia, que não parecia estar solucionando os problemas da sociedade. Na década de 1990, começou a agir para melhorar a prática, convencido de que bancar programas eficazes de ONGs seria a chave para o progresso social. A tese de Mark e de seus ex-colegas da consultoria sem fins lucrativos FSG evoluiu, priorizando a elaboração de estratégias de doação embasadas e voltadas para mudanças sistêmicas que de fato produzem resultados melhores. Infelizmente, a filantropia estratégica não gerou mudanças na escala necessária.
Mark há muito concluiu que a filantropia talvez fosse mais eficaz se financiasse um processo aberto e contínuo de mudanças. Essa ideia foi apresentada pela primeira vez há 20 anos no artigo “Leading Boldly”, escrito em coautoria com Ron Heifetz e John Kania para a Stanford Social Innovation Review. O texto, de 2004, trata da liderança adaptativa e sustenta que o papel do doador é criar e manter condições para que stakeholders possam produzir suas próprias soluções. Outro texto em coautoria com Kania, “Impacto coletivo”, de 2011, mostrava como mudanças duradouras eram fruto não tanto de programas isolados, mas da contínua colaboração intersetorial. Textos posteriores mostravam ainda como o racismo
lizar o eleitor branco nos estados-pêndulo americanos, uma vez que o crescente eleitorado não branco forma com os brancos progressistas uma maioria dos 51% dos qualificados a votar. Estratégias e análises de interseção entre raça e política são o cerne da organização Democracy in Color, fundada por ele.
Os anos de formação de Steve foram moldados pelo movimento pelos direitos civis e por isso ele sempre se interessou pelo tema. Desde cedo, frequentava a igreja negra onde seu avô era ministro. Na década de 1960, os pais haviam se mudado para um bairro de população predominante branca em Cleveland Heights, Ohio. Foram impedidos de comprar uma casa por serem negros, e foi preciso que um integrante branco do movimento de defesa dos direitos civis adquirisse o imóvel e o transferisse a eles. Em 1984, já como ativista estudantil e presidente do grêmio Black Student Union na Universidade Stanford, Steve aderiu à campanha presidencial de Jesse Jackson e à sua Rainbow Coalition, que pela primeira vez demonstrou o poder da comunicação, da organização e da mobilização de eleitores.
Nos últimos 20 anos, Steve e sua mulher, Susan, tiveram importante atuação filantrópica nas áreas de política eleitoral e justiça racial. Em 2005, participaram da criação da Democracy Alliance, que uniu muitos dos maiores doadores progressistas. Steve também participou do financiamento e da criação de várias instituições, incluindo a ProPublica e o Center for American Progress. Também
concebeu, em 2006, o California Donor Table, um círculo de doadores que age para investir em comunidades não brancas. Com sua esposa, investiu mais de US$ 20 milhões em grupos de justiça racial por meio do fundo Susan Sandler, que dispõe de US$ 200 milhões.
O investimento do casal mostra como intervenções filantrópicas em políticas públicas e eleitorais pode criar uma sociedade mais justa e equitativa. Seu apoio à campanha Living United for Change in Arizona em 2016 contribuiu para a aprovação de uma iniciativa popular via voto que elevou o salário mínimo a US$ 12 por hora. Já a doação à campanha New Virginia Majority ajudou a eleger uma maioria democrata que, em 2019, estendeu o acesso ao programa Medicaid a mais de 400 mil indivíduos de baixa renda no estado da Virgínia e, em 2021, promoveu um reajuste no salário mínimo para 800 mil pessoas.
Por tudo isso, Steve reconhece a necessidade de um modelo radicalmente distinto de filantropia para os dias atuais, quando o país precisa vencer aquilo que Isabel Wilkerson – primeira mulher negra a ganhar um Pulitzer de jornalismo – chamou de “os patógenos tóxicos que foram lançados sobre o mundo” e reverter essa campanha de destruição não só de normas sociais, mas da própria democracia.
A falsa premissa de Carnegie
OTEXTO FUNDAMENTAL da filantropia estratégica moderna – O evangelho da riqueza, de Andrew Carnegie, de 1889 – expõe o paternalismo embutido no modelo atual de filantropia estratégica. Carnegie escreveu que “a riqueza, passando pelas mãos de poucos, pode se tornar uma força muito mais potente para a elevação de nossa raça do que se distribuída em pequenas quantias para o próprio povo”, pois ali seria “desperdiçada na satisfação de apetites”. Carnegie concluiu que o homem rico deve ser o “agente de seus irmãos mais pobres, deixando a seu serviço sua sabedoria superior, sua experiência e a capacidade de administrar, fazendo por eles melhor do que fariam ou poderiam fazer por si próprios”.
Em suma, segundo Carnegie, não se pode esperar que os “irmãos mais pobres” saibam do que precisam para melhorar sua situação ou como usar recursos sem amarras de modo responsável. Burocratas do governo tampouco poderiam dar soluções; os mais capacitados para isso seriam os donos de poder e fortuna.
A tese é reforçada pelo mito do sonho americano, segundo o qual qualquer um que se esforce pode conquistar sucesso financeiro; a pobreza seria pura responsabilidade do indivíduo. A ideia se difundiu tanto que foi interiorizada por muitas pessoas em situação de pobreza, minando seu senso de agência e sua autoconfiança.4
Essa narrativa está impregnada de racismo. Nos Estados Unidos, a pobreza se concentra desproporcionalmente na população não branca – de cujo trabalho sempre dependeu a prosperidade dos brancos.5 Como escreveu Steve em Brown Is the New White, “desde o início da história americana a população de cor foi colocada na pobreza como um grupo e mantida na pobreza por políticas sancionadas e promovidas pelo governo [enquanto] os brancos eram elevados, privilegiados e protegidos como grupo”. Erguer-se por conta própria é impossível quando o racismo sistêmico mantém seus pés presos ao chão.
A maioria dos filantropos americanos ainda segue o exemplo de Carnegie, conscientemente ou não. Sua visão determina toda a estrutura do nosso trilionário setor não rentável, no qual recursos são destinados a programas, e não a pessoas, e no qual doadores cheios de boas intenções (em sua maioria brancos) decidem que programas bancar. Tratados posteriores sobre filantropia estratégica reforçam a tese de Carnegie de que quem doa é mais capaz de criar intervenções para mudar a sociedade.6 Será, porém, que Carnegie estava certo?
Muitos filantropos aceitaram a tese de que seu sucesso empresarial deriva de uma sabedoria superior que pode ser transferida para a promoção de mudanças na sociedade. Onde, porém, está a evidência de que saber conduzir uma empresa e promover o progresso social são habilidades intercambiáveis? Nem sempre se é genial em várias áreas: Einstein não sabia pintar, e Picasso não era bom de conta. Carnegie jamais teria buscado conselhos de gestão com seu contemporâneo Mahatma Gandhi, um notório líder no campo social. Por que, então, supor que Carnegie soubesse como criar uma sociedade melhor – ou que os bilionários de hoje saibam? Há uma profunda diferença entre o modelo de “comando e controle” que promove o sucesso empresarial e a combinação de capacidade, empatia e vivência necessária para inspirar, mobilizar e capacitar indivíduos a promover mudanças efetivas e duradouras. As soluções de Carnegie não passavam por mudar práticas empresariais, resguardando assim seus próprios bens e privilégios. Aliás, é possível ajudar uma ou outra instituição beneficente a melhorar a situação de um grupo sem jamais questionar o contexto maior na origem do problema social. É possível doar para um banco de alimentos sem abordar a relação entre baixos salários e o lucro de empresas ou entre programas de proteção social e a arrecadação de impostos. Em suma, quando o progresso social fica a cargo do rico, a filantropia pode se tornar placebo, trazendo uma ajuda bem-intencionada ao mesmo tempo que desvia a atenção de reformas fundamentais que possam ser menos palatáveis para doadores. Essa é a consequência insidiosa e involuntária de depender da expertise do rico para o progresso social. Como apontou o jornalista Anand Giridharadas no livro Winners Take All, o rico pode “fazer sua parte” sem realizar o trabalho estrutural necessário para criar mudanças sustentáveis.
Carnegie também errou ao supor que os “irmãos mais pobres” não usariam o dinheiro com sabedoria, como demonstrado pela crescente literatura sobre programas de transferência de renda incondicionada (TRI) e de renda básica universal (RBU).7 Desde 2008, a entidade GiveDirectly distribuiu US$ 580 milhões em mecanismos de TRI para 1,4 milhão de pessoas no mundo, monitorando os resultados com rigor. Os beneficiários, em sua quase totalidade, souberam usar os fundos para melhorar suas condições de vida. O gasto para a “satisfação de apetites” foi praticamente zero. Testes com mecanismos de TRI mostraram avanços em poupança, nutrição, educação e saúde mental, bem como redução em níveis de estresse, casamento infantil, gravidez na adolescência e violência doméstica.8 Um ensaio controlado randomizado de TRIs em Stockton, na Califórnia, é um dos estudos que mostram como a transferência de renda garante “maior autonomia na exploração de novas oportunidades de trabalho e na atividade de cuidador”.9
Em suma, a tese de Carnegie de que o rico é sábio por causa de sua riqueza e que o pobre é ignorante por causa de sua pobreza estabeleceu as bases de uma abordagem paternalista da filantropia, que ainda perdura. Não surpreende que o histórico de desempenho da filantropia decepcione.
A filantropia não substitui o governo
OMONTANTE DOADO a instituições beneficentes nos Estados Unidos passou de US$ 55 bilhões em 1980 para US$ 485 bilhões em 2022, um salto de 300%, já descontada a inflação. Consultorias especializadas em impacto social (FSG, Bridgespan, Arabella), centros de pesquisa acadêmica e publicações como a SSIR produzem ideias cada vez mais sofisticadas sobre filantropia. Apesar disso, não houve avanços perceptíveis em questões urgentes, como pobreza, doenças crônicas, disparidades educacionais, escassez de moradia, desigualdade racial e mudanças climáticas. De acordo com a Giving USA, quase dois terços do montante doado anualmente a entidades sem fins lucrativos no país vão para instituições religiosas, universidades, instituições de arte e cultura, pesquisa médica ou para causas internacionais que, quando muito, abordam esses problemas indiretamente. A soma de cerca de US$ 150 bilhões ao ano em doações destinadas diretamente a esses problemas tem pouco resultado a mostrar. Apesar do salto nas doações entre 1980 e 2022, o nível de pobreza pouco mudou no país; a população sem-teto cresceu quase 600%, e a disparidade racial de riqueza não parou de crescer (0,1% ao ano em média). Em 2022, os índices de mortalidade eram 3% maiores do que em 1980. No caso das mortes maternas, a taxa dobrou nesse intervalo – sendo que entre mulheres negras é três vezes maior do que entre brancas.10As emissões de carbono estão bem abaixo do pico registrado em 2007, embora em 2022 ainda tenham sido cerca de 5% mais altas do que em 1980. O nível de escolaridade da população subiu em ritmo constante ao longo dos anos, independentemente do aumento do apoio filantrópico – até a chegada da pandemia, que provocou estragos na aprendizagem. Nas últimas quatro décadas, a porcentagem de pessoas com título universitário dobrou (de 17% para 35%), embora a taxa de pobreza tenha permanecido inalterada – e, para 44 milhões de pessoas, exacerbada por US$ 1,8 trilhão em dívida estudantil. Até o setor religioso, maior beneficiário isolado de doações, viu uma queda contínua na afiliação, que nem bilhões de dólares foram capazes de reverter.
É possível que condições sociais e ambientais tivessem piorado ainda mais sem a intervenção da filantropia. Isso posto, há fartas evidências de que ela é incapaz de solucionar problemas sociais em escala nacional. Com efeito, os Estados Unidos são, por ampla margem, os primeiros do mundo em doações filantrópicas per capita –mas estão na lanterna entre os países pertencentes à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) em vários indicadores de bem-estar social e lideram em diversas mazelas sociais. De 1990 a 2022, enquanto a soma de doações dobrou em termos reais, o país foi da 8ª para a 31ª posição em um ranking de progresso social. Esse descompasso entre filantropia e bem-estar não se limita aos Estados Unidos. As nações com maior volume de doação per capita – além dos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido – tendem a se sair mal em indicadores de progresso social.
Já nos de melhor desempenho – países escandinavos, a Alemanha e o Japão –, doações não chegam a 2% do montante filantrópico dos Estados Unidos. Nesses lugares, espera-se que o governo, e não a filantropia, satisfaça os anseios da sociedade.
O governo americano já demonstrou que tem meios de combate à pobreza inacessíveis à filantropia. Em um artigo no Journal of Economic History, Martha Bailey e Nicolas Duquette explicam que durante a “guerra à pobreza” lançada pelo presidente Lyndon Johnson na década de 1960, “o Congresso aprovou leis que transformaram as escolas americanas, criaram Medicare e Medicaid e ampliaram subsídios à moradia, programas de desenvolvimento urbano, de emprego e capacitação, vale-alimentação, seguridade social e outros benefícios sociais”. Ainda segundo eles, “esses programas mais do que triplicaram, em termos reais, o gasto federal em saúde, educação e bem-estar social, que em 1970 já representava mais de 15% do orçamento federal”. Serviram, ainda, para reduzir a taxa de pobreza pela metade, de 24% para 12%. Mais recentemente, auxílios emergenciais durante a pandemia tiraram temporariamente da pobreza mais de 12 milhões de pessoas e reduziram pela metade a pobreza infantil com a ampliação do crédito fiscal Child Tax Credit – quando o Congresso revogou esse benefício fiscal, em 2023, as taxas imediatamente voltaram aos níveis pré-covid, segundo dados do Center on Poverty and Social Policy da Universidade Columbia). Nenhum programa filantrópico teve efeito comparável em tão pouco tempo.
A capacidade do governo de acelerar ou obstruir o progresso social também fica evidente na comparação entre o custo-benefício da filantropia e o do lobby. O montante anual de contribuições filantrópicas supera enormemente o de contribuições políticas e o do lobby empresarial: durante o ciclo eleitoral de 2020, a filantropia superou as contribuições políticas numa razão aproximada de 40:1.11 Em 2022, por exemplo, a indústria de combustíveis fósseis gastou US$ 180 milhões em lobby e em contribuições para preservar subsídios federais e obstruir leis ligadas à mudança climática. No mesmo ano, doações a ONGs para combate a mudanças climáticas totalizaram US$ 7,5 bilhões. Qual dessas somas teve mais impacto?
Aliás, o Congresso estava bem ciente do poder de contribuições políticas quando, há quase 60 anos, vetou o setor filantrópico de utilizar essa opção. Na esteira do apoio de fundações a direitos civis, na década de 1960, a ala conservadora aprovou o Tax Reform Act de 1969, que as proibiu de fazer lobby e política partidária. O apoio da Fundação Ford à campanha de mobilização de eleitores entre a população negra – que ajudou a eleger o primeiro prefeito negro do país, Carl Stokes, de Cleveland, Ohio – foi citado no Congresso como um dos perigos do envolvimento das entidades na política.
Hoje, qualquer indivíduo pode pagar lobistas com seus recursos, mas só empresas podem fazer lobby – em geral contra o interesse público – e deduzir a despesa de sua base tributável. Restringir a atividade para fundações desanimou o envolvimento do setor sem fins lucrativos com a política e mesmo com a proteção dos pilares fundamentais da democracia.
Sem mudanças na esfera governamental, nem a mais abastada e eficaz das organizações filantrópicas chegaria perto de satisfazer necessidades em escala nacional.12 A Teach for America é um exemplo: em 2013, no auge de sua atividade, atendia cerca de 400
mil alunos ao ano com seus professores – ou seja, 2% dos 20 milhões de estudantes de baixa renda com direito a receber merenda escolar. Outro caso é o da Nurse Family Partnership (NFP), um projeto filantrópico bem financiado e de rápido crescimento para apoio pós-parto, em domicílio, a mães de primeira viagem e de baixa renda. Bancado por milhões de dólares em doações e com forte suporte de gestão e consultoria ao longo de quase 30 anos de atuação, a NFP atende hoje 55 mil mães ao ano em 40 estados – um feito extraordinário, mas que ajuda menos de 4% do 1,5 milhão de bebês que nascem em famílias de baixa renda no país todos os anos.
O desafio de conquistar progresso social pela ação do setor sem fins lucrativos vai além da escala e chega à questão mais fundamental, que é saber se iniciativas seriam capazes de solucionar o problema, em vez de apenas aliviar sintomas. A pobreza, por exemplo, é resultado direto de políticas públicas e de condutas empresariais nascidas de uma história de racismo estrutural que nenhum programa sem fins lucrativos poderá corrigir. Nos Estados Unidos, 54% das pessoas em situação de pobreza são crianças, idosos ou portadores de deficiências – que, em sua maioria, não podem trabalhar. O auxílio do governo federal a essa população é de cerca de metade da média dos países da OCDE.13 Sozinha, essa diferença é mais do que o dobro do total da doação filantrópica nos Estados Unidos ao ano.14 Dos 46% restantes aptos a trabalhar, a maioria tem empregos mal remunerados. Nos Estados Unidos, a renda anual de 44% dos trabalhadores com idades entre 18 e 64 anos está abaixo da mediana de US$ 18 mil. Quem é remunerado por hora e ganha mais do que o piso costuma ter horários imprevisíveis que impedem a pes-
O modelo atual de filantropia não é só equivocado, ele é perigoso. Usar o setor não rentável para enfrentar desafios da sociedade encobre a necessidade urgente de uma democracia multirracial, representativa e funcional. Quanto mais ênfase damos à filantropia como solução, mais livramos o poder público e a iniciativa privada da obrigação de promover mudanças. O sonho libertário de um Estado mínimo só se cumpriria se o setor sem fins lucrativos pudesse satisfazer necessidades sociais no lugar do governo – e ele simplesmente não pode.
Para criar uma sociedade equitativa e sustentável, precisamos de uma democracia multirracial. A filantropia estratégica há muito professa buscar a “raiz” de problemas sociais. Mas e se a raiz de todo desafio social e ambiental que aflige os Estados Unidos for a incapacidade do processo político de garantir o bem-estar de toda a população do país?
HOJE HÁ UMA ENORME discrepância entre aquilo que o governo faz e o que a maioria dos americanos deseja. Dois terços dos americanos acham que a mudança climática é uma grande ameaça ao país e querem medidas mais severas. O direito ao aborto tem o apoio de 85% dos cidadãos, e 80% acham que direitos LGBTQ+ devem ser garantidos por lei. A maioria defende a igualdade de gênero e a equidade racial, é a favor de um controle mais rigoroso de armas e contra a
O modelo atual de filantropia encobre a necessidade urgente de uma democracia multirracial, representativa e funcional. Quanto mais ênfase damos à filantropia como solução, mais livramos o poder público e a iniciativa privada da obrigação de promover mudanças
soa de cumprir uma jornada de 40 horas por semana ou de manter um segundo emprego. Há mais de uma década, os postos com baixa remuneração são os que mais crescem no país. O resultado é que os Estados Unidos simplesmente não têm empregos que garantam uma renda mínima digna para toda sua força de trabalho.15 Em suma, o governo americano tomou a decisão de não garantir um meio de subsistência digno para gente tida como não empregável e nem de exigir que empresas paguem salários justos com jornadas humanas e previsíveis àqueles que empregam.16 O impacto dessas decisões não pode ser compensado por programas filantrópicos.
Argumento similar cabe no caso de mudanças climáticas e do subsídio público ao setor de combustíveis fósseis ou da obesidade e da chamada Farm Bill, que subsidia o xarope de milho usado para adoçar alimentos processados. A capacidade do governo e de empresas de determinar condições sociais e ambientais e a incapacidade de organizações de mudá-las significativamente se comprova na maioria das questões que a filantropia estratégica busca abordar.
proibição de livros em bibliotecas de escolas. Enquanto isso, centenas de leis e decisões judiciais em todas as esferas do poder vão cada vez mais no sentido oposto.
Essa discrepância se deve a vieses raciais, econômicos e etários na participação eleitoral, problema enormemente agravado por medidas recentes para suprimir direitos de eleitores não brancos. Isso inclui o esvaziamento da lei de proteção ao voto pela Suprema Corte em 2013, leis de identificação de eleitores restritivas nos estados, a manipulação de distritos eleitorais conhecida por “gerrymandering”, a supressão de seções eleitorais e limites ao voto antecipado. A queda na participação de eleitores devido a restrições recentes já superou a margem de vitória em muitas das eleições passadas. Trabalhadores horistas – em sua maioria não brancos – perdem renda se saem para votar durante o trabalho e em geral enfrentam longas filas nas poucas seções eleitorais de sua localidade, enquanto os com salário fixo e maior renda, bem como os aposentados, costumam ter acesso a mais locais de votação, com filas mais curtas. O resultado é que a população que vota regularmente é mais velha, mais branca e mais rica do que a população em geral.
“Em um país com séculos de opressão e racismo sistêmicos, há pouco interesse em fazer a participação na democracia tão fácil quanto a participação no consumo”, sustenta Steve em How We Win the Civil War. “A base de eleitores brancos ricos vem incentivando políticos a tomar medidas que reforçam o racismo estrutural e a desigualdade econômica há mais de um século – mesmo quando isso prejudica a população branca.
No livro The Sum of Us, a escritora e ativista Heather McGhee lembra que, décadas atrás, centenas de cidades do sul dos Estados Unidos preferiram esvaziar ou eliminar piscinas públicas – mais frequentadas por crianças brancas do que negras – a aceitar a integração racial imposta por lei. O padrão não é diferente hoje. Em 2020, uma década após a aprovação da reforma do setor de saúde com o Affordable Care Act, dez estados americanos continuavam recusando recursos federais não reembolsáveis que beneficiariam muito mais pessoas brancas do que negras. Neste ano, 15 governadores republicanos rejeitaram recursos desse tipo para prover merenda a alunos nas férias – embora 42% dos indivíduos em situação de pobreza sejam brancos não hispânicos e apenas 24% sejam negros.17 McGhee conclui que o apego obstinado ao racismo sistêmico sacrifica muitas oportunidades boas para todos.
Um modelo de empoderamento para o progresso social
INVERTAMOS O MODELO DE ANDREW CARNEGIE e apostemos na sabedoria do pobre. Já que não há como resolver os problemas da sociedade sem onerar ricos e poderosos, não se pode esperar que venha deles a solução. Filantropos não precisam achar respostas para o problema dos outros, só ajudar a capacitar as pessoas a melhorar sua condição de vida como bem entenderem. Isso não quer dizer que todo mundo possa prosperar por conta própria sem assistência – mas, sim, que a assistência muitas vezes é conflitante com o que a filantropia e entidades sem fins lucrativos atualmente fazem.
Quem pratica a filantropia por uma sociedade mais equitativa deve lutar para garantir uma democracia efetiva, que represente a população do país, rejeitar narrativas sociais falsas e equivocadas que confundem a opinião pública e apoiar a autodeterminação econômica dos que vivem na pobreza.
Garantir uma verdadeira democracia multirracial. | Se só o governo tem poder e escala para satisfazer os anseios da sociedade, filantropos precisam aprender a influenciar o governo. É necessário que abordem questões delicadas como desigualdade racial, política tributária, supressão de votos, regulamentação da atividade empresarial, salário mínimo e condições de trabalho. Não há como empoderar os mais necessitados sem limitar o poder dos que estão no comando – ainda que o resultado final seja uma economia mais vibrante e equitativa que beneficie a todos.
Uma verdadeira democracia multirracial requer que o processo político reflita a diversidade da população. Já que as eleições americanas são normalmente decididas por alguns milhares de votos nos chamados estados-pêndulo, a filantropia poderia agir por meio de duas atividades permitidas ao meio não rentável: incentivar a participação eleitoral e fazer campanhas informativas sobre temas específicos. Fundações destinam pouquíssimos recursos a essas
atividades: em 2022, dos US$ 105 bilhões doados por essas entidades, apenas US$ 408 milhões (de 81 financiadores) foram destinados à mobilização e à educação de eleitores – nem metade de 1%. 18
Não se trata só de falta de financiamento, mas também de uso ineficaz de recursos. Homens brancos são apenas 31% da população americana e 23% dos eleitores democratas, mas controlam quase 90% do Partido Democrata e do movimento progressista.19 Com isso, campanhas gastam somas exorbitantes com consultores homens e brancos – e, depois, milhões de dólares em propaganda voltada, sobretudo, a eleitores brancos. Isso ajuda a explicar por que iniciativas anteriores de mobilização do eleitorado tiveram impacto mínimo.
No entanto, uma abordagem diferente e eficaz é possível –como demonstrou o trabalho de engajamento cívico comandado pela ativista Stacey Abrams no New Georgia Project (NGP). O NGP coordenou uma rede de grupos de alistamento e mobilização de eleitores oriundos das comunidades que buscavam engajar e trabalhou sem trégua durante uma década, estudando rigorosamente o comparecimento às urnas e usando planilhas detalhadas para monitorar condutas e perfil demográfico de eleitores em distritos cruciais. O esforço compensou: a participação de eleitores não brancos aumentou quase 50%, indo de 625 mil em 2016 para 915 mil em 2020.20 Esse aumento foi decisivo para a eleição dos democratas Raphael Warnock e Jon Ossoff para o Senado – a primeira vez na história em que o estado elegeu um senador negro ou judeu. Isso ajudou os democratas a manter o controle do Senado e, em última instância, permitiu a aprovação, em 2022, da Inflation Reduction Act, lei que garantiu US$ 500 bilhões em apoio à transição para energias limpas, reduziu custos da saúde e aumentou a arrecadação de impostos. Nada mau para uma organização com um orçamento anual de US$ 13 milhões. Progressos semelhantes vêm sendo observados na Virgínia, no Arizona, na Carolina do Norte e no Texas.
Refutar narrativas sociais que distorcem a opinião do eleitorado é outro trabalho essencial. Modificar atitudes do eleitor e expor concepções errôneas não será fácil em tempos de polarização política, “fatos alternativos” e bolhas em redes sociais. Mas, se todos os americanos fossem bem-informados e votassem, posturas extremistas teriam muito menos peso, e a filantropia estratégica – se optasse por investir em educação e participação de eleitores –poderia avançar muito mais.
Imagine se 5% dos US$ 5 bilhões que as fundações americanas distribuem ao ano fossem dedicados à mobilização de eleitores pelo modelo do NGP. Isso transformaria as eleições e permitiria o surgimento de um programa de ações em todos os níveis de governo que realmente produziria, em escala nacional, muitos dos resultados que financiadores tentam arduamente atingir com seus programas.
Ainda seria possível ir além. A única exceção à proibição do lobby por fundações – a “cláusula da autodefesa” – permite que as entidades se mobilizem no Congresso a respeito de temas que as afetem. Em suma, uma fundação poderia fazer lobby pelo direito de fazer lobby em prol do interesse público – o que, como observado anteriormente, tem potencialmente mais impacto por um custo muito menor, embora uma mudança dessa natureza talvez só fosse possível com um Congresso muito distinto do atual.

Mesmo sem transformar a política nacional, a filantropia poderia fazer muito mais por indivíduos em situação de pobreza se adotasse uma abordagem de empoderamento que incentivasse a autonomia individual.
Promover a autodeterminação. | A filantropia deveria aprovar algo que é parte da solução para a pobreza no país – um mecanismo de renda básica universal (RBU) bancado pelo governo. Como sustentou Martin Luther King Jr. em sua obra final, Where Do We Go from Here?, “o indivíduo terá dignidade no dia em que tiver o controle das decisões sobre a própria vida, a garantia de contar com uma renda estável e certa e quando souber que tem os meios para melhorar sua própria condição”. A quantia gasta em alívio financeiro durante a covid-19 daria para bancar dez vezes o valor de uma RBU em escala nacional. Ou seja, se houver vontade política, é viável.21
Mesmo sem a RBU, a filantropia pode explorar o desejo universal de autorrealização para promover o empoderamento econômico. O modelo de mudança peer-driven criado por Mauricio Miller, agraciado com uma Genius Grant da fundação MacArthur, é um exemplo. Em 2001, Miller criou a Family Independence Initiative (rebatizada de UpTogether em 2021). Ela propunha uma aborda-
gem à redução da pobreza que não dependia de intervenções convencionais do Estado ou da filantropia. Miller organizava reuniões mensais com 25 famílias em Oakland que mal tinham renda para sobreviver. Os participantes recebiam praticamente zero auxílio financeiro do programa e nenhum apoio externo; tampouco participavam de outros programas de entidades.22 Aos poucos, começaram a compartilhar suas esperanças e metas, a relatar seu progresso e a dar conselhos e incentivo uns aos outros. O sucesso de um inspirava os demais – a buscar educação, a adotar uma alimentação mais saudável ou a pagar dívidas. O programa impunha que as famílias acompanhassem e informassem todo mês sua situação financeira, a saúde e o progresso em relação às próprias metas, o que fomentava foco e determinação. Sentindo-se parte de uma comunidade, começaram a se ajudar entre si: no cuidado dos filhos, em consertos domésticos, na busca de novas oportunidades de trabalho. Segundo Miller, o processo imita o modo como famílias mais ricas utilizam suas redes para avançar pessoal e profissionalmente. Após três anos, a renda das famílias tinha subido 40%. O projeto foi reproduzido em San Francisco, no Havaí e em Boston, com resultados parecidos. Em San Francisco, a renda dos participantes subiu 23% e suas economias, 240%, em dois anos. Um quarto dos participantes que integravam programas de auxílio do governo já não precisava da assistência.23
De lá para cá, Miller criou o Center for Peer Driven Change, defendendo essa abordagem em comunidades carentes ao redor do mundo. Os participantes trocam conhecimentos, contatos e incentivos, ajudando uns aos outros a atingir metas. Ver alguém da própria comunidade enfrentando os mesmos obstáculos e progredir traz uma motivação que ninguém de fora poderia igualar. As pessoas se inspiram no sucesso dos pares e avançam a partir disso, o que significa entender a conquista alheia e, sobretudo, como foi alcançada. No livro The Power of Positive Deviance, os professores Richard Pascale, Jerry Sternin e Monique Sternin observam que, em toda comunidade que enfrenta um problema, há alguém que improvisou soluções, embora o restante em geral desconheça ou encare com desconfiança esses casos atípicos. Ao estudar detidamente a comunidade, é possível identificar esses desvios positivos e incentivá-los a compartilhar seu método com os demais.
A facilitação econômica é uma abordagem similar. Ela foi concebida por Ernesto Sirolli, que escreve e dá consultoria sobre desenvolvimento econômico, ajuda indivíduos a abrir o próprio negócio e já criou milhares de empregos ao redor do mundo.24 Esse modelo busca incentivar pequenos negócios locais dentro de uma comunidade, em vez de trazer especialistas e financiamento de fora para traçar um plano de desenvolvimento econômico de grande escala. Como facilitador econômico, Sirolli tem uma abordagem simples: não iniciar nada e nunca encorajar ninguém. Quando al-
guém o procura com uma ideia, ele ajuda a pessoa a refletir sobre o que seria necessário para que o negócio fosse economicamente viável, incluindo possíveis sócios ou parceiros. Se a ideia não faz sentido ou a pessoa perde o interesse, o facilitador simplesmente espera até que outra pessoa venha com a próxima ideia.
O sucesso de um negócio inspira os demais a procurar o facilitador para colocar à prova seu próprio tino. Cada empreendimento abre oportunidades para o surgimento de outros – como fornecedores, distribuidores ou extensões de mercado. Enquanto isso, empregos aumentam o poder aquisitivo local, que sustenta ainda mais empresas. O movimento vai ganhando ímpeto, formando uma economia local forte, condizente com a capacidade e os recursos daquela comunidade específica. O trabalho do facilitador econômico – e, sugerimos, da filantropia – não é criar a solução, mas, como sustenta Sirolli, “apenas ajudar a remover obstáculos que impedem o crescimento do cliente”.25 Entre os obstáculos estão a ausência de senso de autonomia, de uma renda básica suficiente, de apoio mútuo e de pessoas em situação similar que sirvam de exemplo.
A tese de que indivíduos de uma mesma comunidade podem se ajudar na busca do sucesso econômico não é nova. Após a Guerra Civil, no período de Reconstrução, durante as décadas de 1860 e 1870, centenas de comunidades negras como a Black Wall Street em Tulsa, Oklahoma, vicejaram sem auxílio do governo ou de entidades filantrópicas. Negros criaram sua própria economia, com
dade fundada em 2021 que trabalha com firmas de private equity para distribuir ações a trabalhadores horistas, ampliando a função de mecanismos de transferência de renda incondicionada (TRI), os quais, em vez de suplementar renda, visam a construção de patrimônio. Os modelos citados acima – assim como a RBU, o impacto coletivo e a liderança adaptativa – não têm resultados predeterminados. Essa falta de balizas objetivas é um problema para o modelo vigente de filantropia, no qual o doador busca financiar soluções que possam produzir resultados previsíveis de forma garantida. A abordagem de empoderamento também vai além de inovações recentes, como a filantropia baseada na confiança, que evita o micromanagement e deixa que cada organização aja como bem entender, ou da doação participativa, na qual membros da comunidade tomam decisões sobre as doações. Não há estratégias grandiosas ou teorias de mudança elaboradas. O que recomendamos é que financiadores apoiem um processo aberto que permita às pessoas definir os próprios objetivos e descobrir as próprias soluções, segundo suas necessidades e circunstâncias – soluções que talvez nunca ocorram a ricos doadores ou especialistas de fora.
Outras mudanças serão necessárias. Hoje, nosso sistema filantrópico premia a necessidade em vez do sucesso: quanto maior ela for, mais convincente o argumento pelo apoio filantrópico. Essa abordagem cria incentivos perversos que desestimulam o progresso individual, a autonomia e o orgulho de conquistas. Até quando uma
Precisamos redirecionar nossos esforços para a necessidade urgente de uma democracia mais plenamente representativa. Devemos ajudar as pessoas a encontrar suas próprias soluções, reforçar seu senso de autonomia e ajudá-las no fortalecimento de suas próprias comunidades
seus bancos e seu comércio, com o apoio de advogados e de médicos negros. Hoje, esses exemplos são uma memória longínqua. Isso se deve à sanha assassina de brancos que destruíram a Black Wall Street, a táticas políticas que suprimem direitos de não brancos e os excluem da vida pública e a programas sociais que geram dependência e impedem a autodeterminação.
Cada exemplo acima exigiu, sim, recursos da filantropia. Mas esses recursos bancaram uma abordagem antropológica que identificou modelos de sucesso existentes, intrínsecos a comunidades específicas, para então compartilhar o que era descoberto com outras pessoas, em um processo contínuo de apoio e incentivo ao longo de anos. É um trabalho feito no lugar. As soluções se alastram à medida que as pessoas passam a confiar umas nas outras, a se identificar com elas, a aprender com seus pares. O progresso é gradual, mas cumulativo. É preciso, sim, pessoal e verba – mas o impacto cresce e se espalha sem exigir recursos cada vez maiores, como costuma ocorrer com a expansão de programas convencionais de organizações sem fins lucrativos.
Fomentar a autodeterminação econômica exige uma reavaliação radical do modelo convencional da filantropia, que precisará aprender a doar recursos de modo a aumentar o senso de autonomia de seus beneficiários. Um exemplo inovador é o da Ownership Works, enti-
intervenção dá certo, o crédito vai para a entidade ou para o doador, não para aqueles que converteram o apoio em sucesso. É preciso inverter essa norma e começar a premiar iniciativas individuais e comunitárias. Financiadores devem identificar gente no caminho do sucesso, e não aqueles com as maiores necessidades; devem apoiar esses esforços e, em seguida, divulgar essas conquistas para os demais na comunidade. Além disso, precisamos estender o reconhecimento, as ajudas financeiras e o apoio que hoje damos a líderes de programas beneficentes inovadores e de sucesso aos próprios membros da comunidade que acharam meios de melhorar suas condições de vida. Esses indivíduos – e não apenas empreendedores sociais ou filantropos – devem ser os heróis do setor social.
Não estamos sugerindo que doadores deixem de apoiar programas e instituições sem fins lucrativos. Sugerimos, contudo, que gastem menos recursos perseguindo a última inovação social, tentando expandir organizações para produzir impacto nacional ou embarcando em visões grandiosas para resolver problemas complexos, E que, em vez disso, direcionem fundos para mudanças peer-driven e para mobilização eleitoral. A abordagem de empoderamento requer muito menos dinheiro do que iniciativas atuais para sustentar e expandir programas de ONGs. Remanejar uma porcentagem modesta das doações faria uma enorme diferença.
Ainda há um longo caminho até que o governo aprenda a ouvir e responder aos anseios da população ou autorize mecanismos de RBU. Enquanto isso, milhões de pessoas dependerão dos atuais serviços filantrópicos.
AO LONGO DE NOSSAS CARREIRAS na filantropia, acabamos por concluir que não há um meio superior aos demais para financiar o progresso social. Todos os muitos modelos são capazes de apresentar evidências de sua eficácia e, dado o leque de objetivos e de circunstâncias de doação, não devia surpreender que não haja uma resposta única. Até Andrew Carnegie, com todos os seus preconceitos, contribuiu para o progresso social.26
Contudo, cada abordagem filantrópica tem também limitações. Em última instância, devemos reconhecer o duro fato de que o modelo de filantropia em que apostamos até hoje não produziu – e não vai produzir – os requeridos avanços sociais em escala nacional. Precisamos redirecionar nossos esforços para a necessidade urgente de uma democracia mais plenamente representativa da população do país e devemos ajudar as pessoas a encontrar suas próprias soluções, reforçar seu senso de autonomia e ajudá-las no fortalecimento de suas próprias comunidades.
Estamos em uma batalha contra aqueles que usam o governo para proteger seu próprio poder e privilégio à custa de todos os demais. Seus instrumentos são o controle, a supressão e falsas narrativas. Os nossos devem ser o empoderamento, a mobilização e uma compreensão mais profunda de como barreiras sistêmicas, como o racismo, conformam nosso país. Empoderar indivíduos economicamente e dentro do processo político é a maneira mais eficaz de a filantropia contribuir para um futuro mais justo e sustentável para nossa nação. O
MARK KRAMER (Mark@Kramer.Capital) é colaborador de longa data da SSIR e da Harvard Business Review. É cofundador, membro do conselho e ex-diretorgerente da FSG, além de ex-conferencista da Harvard Business School. Também é cofundador e diretor da Maternal Newborn Health Innovations e sócio do fundo de investimento de impacto Congruence Capital.
STEVE PHILLIPS é colunista do The Guardian e da The Nation e já contribuiu para o New York Times e o Washington Post. É apresentador do podcast Democracy in Color with Steve Phillips e autor do best-seller Brown Is the New White e de How We Win the Civil War
Fall 2014, “Collective Insights on Collective Impact”; Stanford Social Innovation Review, série digital, 2022, “Collective Impact 10 Years Later”; e John Kania, Mark Kramer e Peter Senge, The Water of Systems Change, FSG, May 2018.
4 Joe J. Gladstone et al., “Financial Shame Spirals: How Shame Intensifies Financial Hardship”, Organizational Behavior and Human Decision Processes, vol. 167, nov. 2021.
5 A taxa de pobreza entre negros é de 19%; entre brancos não hispânicos é de 7%. Mark R. Rank, Lawrence M. Eppard e Heather E. Bullock, Poorly Understood: What America Gets Wrong About Poverty, Nova York: Oxford University Press, 2021.
6 Ver, por exemplo, Paul Brest e Hal Harvey, Money Well Spent: A Strategic Plan for Smart Philanthropy, Stanford: Stanford University Press, 2018; Strategic Giving: The Art and Science of Philanthropy, de Peter Frumkin, Chicago: University of Chicago Press, 2006, e The Essence of Strategic Giving: A Practical Guide for Donors and Fundraisers, Chicago: University of Chicago Press, 2010; Helmut K. Anheier, Adele Simmons e David Winder, eds., Innovations in Strategic Philanthropy: Local and Global Perspectives, Heidelberg: Springer, 2007; Joel Fleishman, The Foundation: A Great American Secret; How Private Wealth Is Changing the World, Nova York: Public Affairs, 2007; e Rajiv Shah, Big Bets: How Large-Scale Change Really Happens, Nova York: Simon Element, 2023.
7 TRI pode ser um desembolso único ou esporádico; já RBU é um auxílio financeiro contínuo.
8 Jade Sui, Olivier Sterck e Cory Rodgers, “The Freedom to Choose: Theory and Quasi-Experimental Evidence on Cash Transfer Restrictions”, Journal of Development Economics, vol. 161, mar. 2023. Ver também Jason DeParle, “Cash Aid to Poor Mothers Increases Brain Activity in Babies, Study Finds”, The New York Times, 24.jan.2022.
9 Stacia West e Amy Castro, “Impact of Guaranteed Income on Health, Finances, and Agency: Findings from the Stockton Randomized Controlled Trial”, Journal of Urban Health, vol. 100, 10.04.2023.
10 Estudos recentes sugerem que o aumento pode ser devido a mudanças na metodologia de coleta de dados, embora isso não explique a disparidade racial.
11 Dados comparados da Giving USA e da Open Secrets.
12 Essa constatação foi feita anteriormente por Steven H. Goldberg, Billions of Drops in Millions of Buckets, Hoboken: John Wiley & Sons, 2009.
13 Desembolsos públicos em países da OCDE reduzem a pobreza em 63% em média, ao passo que nos Estados Unidos a redução produzida por programas públicos é de 35%. Embora a taxa de pobreza nos Estados Unidos antes de desembolsos públicos seja praticamente igual à média da OCDE, a taxa de pobreza, computados todos os desembolsos do governo, é o dobro da média. Veja Rank, Eppard e Bullock, Poorly Understood
14 Somente 2,2% do PIB se destinam ao combate à pobreza; outros 2,2% vão para o Medicaid. Para dobrar esses gastos e chegar à média da OCDE seria preciso US$ 1,2 trilhão. Ibid
15 Peter Georgescu, Capitalists Arise!: End Economic Inequality, Grow the Middle Class, Heal the Nation, Oakland: Berrett-Koehler, 2017.
16 Em Los Angeles, uma lei municipal promove turnos de trabalhadores do varejo mais previsíveis e humanos. Estudos sugerem que mudanças como essa podem melhorar os resultados de empresas ao reduzir a rotatividade e aumentar a produtividade. Ver Zeynep Ton, The Good Jobs Strategy: How the Smartest Companies Invest in Employees to Lower Costs and Boosts Profits, Seattle: Lake Union, 2014.
17 Embora a porcentagem de negros vivendo em situação de pobreza seja maior do que a de brancos, como a população branca é maior o número de brancos na pobreza é muito menor do que o de negros. Ver Rank, Eppard e Bullock, Poorly Understood.
18 Ver Foundation Funding for US Democracy (democracy.candid.org); ver também Kelly Born, “The Role of Philanthropy and Nonprofits in Increasing Voter Turnout”, Stanford Social Innovation Review, Winter 2016.
19 Steve Phillips, Brown Is the New White, Nova York: The New Press, 2016.
20 Steve Phillips, How We Win the Civil War, Nova York: The New Press, 2022.
1 Estas ideias foram bem articuladas por outros. Ver Mauricio L. Miller, The Alternative: Most of What You Believe About Poverty Is Wrong, autopublicado, 2023; Richard Pascale, Jerry Sternin e Monique Sternin, The Power of Positive Deviance: How Unlikely Innovators Solve the World’s Toughest Problems, Cambridge, Mass.: Harvard Business Review Press, 2010; Ernesto Sirolli, Ripples from the Zambezi: Passion, Entrepreneurship, and the Rebirth of Local Economies, British Columbia, Canadá: New Society Publishers, 1999.
2 Anand Giridharadas, Winners Take All: The Elite Charade of Changing the World, Nova York: Alfred A. Knopf, 2018. Ver também Mark R. Kramer, “Are the Elite Hijacking Social Change?”, Stanford Social Innovation Review, Fall 2018.
3 Ver John Kania et al., “Centering Equity in Collective Impact”, Stanford Social Innovation Review, Inverno 2022; Stanford Social Innovation Review, suplemento,
21 O valor gasto em auxílios durante a pandemia (US$ 5,9 trilhões), sem aumento de impostos como contrapartida, seria suficiente para pagar uma renda mensal de US$ 1.300 a cada um dos 38 milhões de adultos que vivem abaixo da linha da pobreza nos Estados Unidos por uma década.
22 No início, participantes recebiam US$ 200 ao mês para entregar informações sobre renda, poupança, saúde e educação, mas os pagamentos foram suspensos após o primeiro ano, pois foi constatado que não eram indispensáveis à solução. David Bornstein, “Out of Poverty, Family-Style”, The New York Times, 14.07.2011.
23 Ibid
24 Sirolli, Ripples from the Zambezi
25 Ibid
26 Ver Maribel Morey, White Philanthropy: Carnegie Corporation’s ‘An American Dream’ and the Making of a White World Order, Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2021.
Richard Sippli é diretor de operações e de relações institucionais do Movimento Bem Maior
OLHAR PARA DESAFIOS SOCIAIS complexos e buscar soluções sistêmicas por meio da filantropia estratégica faz parte de um trabalho que envolve aprendizado, desenvolvimento e melhoria contínuos. O mundo não cessa de se transformar e, portanto, as estratégias devem seguir as mudanças e serem atualizadas.
Esse modelo não é estático, e sim dinâmico. Mas isso passa despercebido por Mark Kramer e Steve Phillips, ao argumentarem que a filantropia estratégica falhou em resolver problemas sociais de larga escala nos Estados Unidos. Defender sua substituição por uma filantropia do empoderamento parece mais marketing do que uma visão construtiva. Esse tipo de posicionamento reflete uma cultura que busca o novo a qualquer custo – mesmo que esse novo seja apenas uma reformulação do já conhecido.
O nascimento da filantropia estratégica foi essencial como base de aprendizado para as práticas atuais. Provavelmente, não poderíamos hoje debater de modo tão aberto sobre inovações em filantropia se não fosse pelo caminho já percorrido. É nisso que acreditamos no Movimento Bem Maior (MBM), que, desde 2018, exerce essa abordagem e busca fortalecer o ecossistema filantrópico do Brasil. Na comparação com o quadro americano descrito pela dupla de autores, enxergamos com mais otimismo os avanços em nosso país.
A filantropia estratégica é retratada por Kramer e Phillips de forma simplista e estática, como se ela se limitasse a iniciativas autoritárias destinadas a encontrar soluções definitivas para problemas sociais, com base na crença em uma superioridade intelectual do filantropo. Quando bem planejada e executada, ela serve como uma poderosa ferramenta para catalisar iniciativas sociais importantes, inteligentes e transformadoras. Os autores não reconhecem a possibilidade de que esse modelo se ajuste e se desenvolva conforme as limitações das normas sociais de um determinado tempo e lugar.
Com a prática, aprendemos que trabalhar com filantropia estratégica não significa deixar “nas mãos de financiadores descobrir, avaliar e expandir soluções inovadoras a serem implementadas por organizações sem fins lucrativos”, conforme escrevem os autores.
Entidades como o MBM atuam para fortalecer as lideranças locais e as organizações sociais, entendendo que estas são as verdadeiras protagonistas. Nosso papel, baseado na construção de relações de confiança e transparência, é o de oferecer o suporte necessário que auxilie as instituições a exercer sua máxima
potência. Em vez de questionar os parceiros sobre o que será feito com o dinheiro, perguntamos: “Como podemos ajudar?”.
Filantropia é um trabalho em rede, e as lideranças locais são as que melhor podem identificar os desafios, propor iniciativas, apontar caminhos a seguir e testar soluções, sendo agentes ativos de engajamento comunitário e transformação.
No MBM, adotamos uma abordagem de aprendizado contínuo, ajustando nossas estratégias com base em feedbacks das organizações que apoiamos e nas mudanças no ambiente social e econômico. No caminho para gerar impacto social, utilizamos metodologias para definir objetivos claros e mensuráveis, assegurando que os esforços estejam sempre alinhados com as necessidades reais das organizações e com a missão de promover melhorias sociais significativas.
Kramer e Phillips sugerem a filantropia do empoderamento em substituição da filantropia estratégica. A meu ver, elas pregam basicamente a mesma coisa.
Observando os projetos no Brasil, vemos iniciativas, dentro de um quadro estratégico, gerarem empoderamento. Exemplo disso é o apoio que damos a projetos de capacitação por meio do Programa Futuro Bem Maior. Ele visa justamente a sustentabilidade e a autonomia a longo prazo.
Tomemos o caso do que houve no Brasil durante a pandemia de covid-19. Surgiu uma enorme e rápida mobilização da sociedade civil para arrecadar recursos, distribuir produtos e promover iniciativas para que a população pudesse enfrentar a crise sanitária e financeira. Em um dos nossos períodos mais dolorosos, as ações filantrópicas foram essenciais em áreas onde a resposta governamental era inexistente ou insuficiente.
Quando há situações desse tipo, os holofotes costumam se voltar com mais atenção para o trabalho de organizações sociais, muito ágeis em situações de emergência. Mas é importante destacar que os apoios recorrentes às instituições são fundamentais para que elas possam exercer a filantropia estratégica de forma preventiva, buscando promover mudanças estruturais.
Não podemos nos esquecer de que cada organização é fundada com um propósito, com uma ou várias causas a defender. Doações recorrentes permitem que as instituições não fiquem presas a ações pontuais. É um trabalho de longo prazo – estudar estratégias, testar iniciativas, buscar a eficácia, validar soluções e muito mais –, mas o resultado pode inspirar políticas públicas e, consequentemente, multiplicar o impacto.
Acreditamos que a filantropia estratégica tem a capacidade de fomentar um grande polo de inovação social no nosso país e que o governo, com a sua enorme estrutura e poderosa força econômica, possa receber as boas ideias surgidas e aplicá-las em uma escala imensamente maior.
Kramer e Phillips, que abordaram a situação dos Estados Unidos, enfatizaram a necessidade do fortalecimento da participação democrática por lá. Nós, que olhamos só para o Brasil, também entendemos a importância desse tema para o avanço do nosso país. Acreditamos que uma sociedade civil forte e engajada é crucial para a construção de uma democracia mais justa e re-
presentativa. A filantropia estratégica é utilizada pelo MBM para incentivar a participação democrática.
Ou seja, quando bem implementada, a filantropia estratégica fortalece a democracia, complementa os esforços governamentais e capacita as comunidades a se tornarem autossuficientes e resilientes na construção de uma sociedade pautada na justiça social.
No MBM, continuamos comprometidos com uma abordagem que combine alívio imediato e desenvolvimento sustentável a longo prazo, sempre com o objetivo de ativar o potencial transformador da sociedade civil brasileira. Acreditamos no poder da filantropia estratégica e mantemos nosso compromisso de aprender, adaptar e inovar para melhor servir a sociedade brasileira.
A filantropia abrange uma grande pluralidade de pensamentos e de iniciativas, mas o objetivo é comum: construir um futuro melhor. Com união, colaboração, respeito ao valor de diferentes práticas, somos todos mais fortes para buscar soluções e construir um legado. Estamos todos no mesmo barco e devemos remar juntos, pois as ondas a superar são gigantes. O
Raphael Mayer é cofundador da Simbi Social e vencedor do Prêmio Empreendedor Social de Futuro 2018
ENTRE OS PONTOS a considerar ao elaborar uma crítica à filantropia estratégica, está a complexidade implicada em trabalhar o desenvolvimento territorial sob a ótica das mudanças sistêmicas.
A mobilidade social e a erradicação da pobreza são mais sintomas do que causas: é essencial distinguir as nuances para que o capital articulado seja resolutivo na raiz dos problemas, enxergando que as causas são transversais e territoriais. Essa visão se contrapõe à ideia segundo a qual o filantropo assume uma causa e um território por afinidade pessoal. Quando essa visão individualista vige, abandona-se a perspectiva de uma atuação multicausal, mais efetiva para os desafios de uma localidade. Com isso, gastam-se mais recursos e tem-se menor resultado.
No Brasil, a educação, temática prioritária na agenda da filantropia corporativa e familiar, é a causa que mais tangibiliza os desafios enfrentados para que o investimento social seja efetivo.
Embora seja catalisadora e transformadora, ela precisa ser trabalhada de maneira integrada e em todas as frentes. Uma escola de ponta, dotada de equipamentos tecnológicos, não será suficiente para uma criança desnutrida, com problemas de visão ou desafios de mobilidade para chegar à sala de aula, que não tenha um modelo para alimentar um sonho. O investimento social, portanto, não pode perder de vista as peculiaridades estratégicas de combate à desigualdade. Isso em qualquer parte do mundo.
No panorama brasileiro, o desafio para imprimir uma visão mais sistêmica à filantropia se desdobra em cinco níveis.
O primeiro está atrelado à decolonização do investimento social, um movimento para que investidores estabeleçam processos baseados em novas formas de trabalhar, criando redes e maneiras distintas de aprendizagem para além das fronteiras
convencionais. A base é encampar medidas de transferência de poder para os indivíduos e para as comunidades mais vulneráveis. No cerne desse pensar filantrópico está a demanda por estruturar formas de abrir mão de poder.
O segundo nível se compõe de dois tópicos: a importância da transparência de dados para que soluções ganhem escala e o papel do poder público para potencializar esse processo. Aqui, temos uma intersecção com um tema muito relevante do artigo de Kramer e Phillips: a manutenção das democracias com governos mais transparentes e estruturados. Nestas, o poder público tende a fornecer informações de melhor qualidade. O pilar estrutural da transparência de dados conduz a filantropia no caminho dos investimentos sociais eficientes.
O terceiro nível é a capacidade de articulação e coordenação dos aportes, vindos do setor público ou do privado. O diálogo para uma atuação em conjunto, diante dos desafios multifatoriais da desigualdade, está na raiz de uma filantropia mais efetiva.
No quarto nível está a necessidade de discutir a filantropia à luz de um contexto de escassez de recursos. Na realidade americana,a doação para iniciativas filantrópicas atingiu, de acordo com o relatório Giving USA 2024, US$ 557,6 bilhões em 2023. No Brasil, o volume mobilizado soma U$ 4 bilhões, segundo dados da Simbi. Essa estimativa se baseia em dados do Gife (Censo 2020), do Idis (Brazil Donation Research 2022), da Receita Federal (2023) e da própria base de dados da Simbi (2022).
Na prática, em 2022 o investimento social representava, no Brasil, cerca de 0,2% do Produto Interno Bruto (PIB); nos Estados Unidos, cerca de 2%. Considerando a população dos dois países –336,8 milhões nos Estados Unidos e 203,1 milhões no Brasil –, é possível enxergar o tamanho do desafio.
Some-se a isso a falta de dados e de articulação de capital filantrópico para um adequado desenvolvimento territorial.
Quando olhamos para o cenário de doação no Brasil e no exterior, vemos que é preciso acelerar. Empresas e pessoas físicas estão cada vez mais ativas; entretanto, ainda existem problemas que travam o impacto das doações.
O quinto nível estruturante na filosofia brasileira é o alto custo transacional. Investimento social bem-feito custa caro. A escassez de capital e de ferramentas dificulta o crescimento. Captar, distribuir e monitorar os recursos são processos de alto custo na alocação.
Para quebrar essa lógica, precisamos instrumentalizar as organizações. Uma gestão de processos que permita maior capacidade para ganhar escala e a redução do custo transacional darão mais tração aos alocadores de capital, resultando na maior mobilização de recursos.
Nessa engrenagem, pode ser interessante trabalhar a parceria com a filantropia internacional na perspectiva, também, de decolonização de recursos que partem do Norte em direção ao Sul Global. Mas é relevante pensar que, para criar essa movimentação, é necessário que haja atores locais com capacidade e estrutura de distribuir esses recursos nos territórios.
De posse de dados gerados por tecnologia e pela escuta nos territórios, filantropos nacionais podem ser canais para a distri-
buição dos recursos captados no exterior. Nesse panorama, geramos uma inteligência coletiva a serviço do impacto social positivo.
A tecnologia tem desempenhado papel tangível na criação de processos de investimento social privado, trazendo governança, mitigação de riscos e eficácia de ponta a ponta. Ela nos permite conduzir aportes financeiros com mais confiabilidade e integridade.
Na Simbi, social tech especializada no investimento social privado de grandes empresas e organizações, usamos a inteligência de dados para criar cenários com evidências de possíveis impactos sociais. Essa visão abarca análises mais acuradas das demandas sociais territoriais.
De posse de informações confiáveis, os investidores – empresas, governos e organizações – podem direcionar os recursos para territórios que requerem uma maior atenção do ponto de vista socioeconômico e de oportunidades para os cidadãos; com isso, pode-se maximizar o impacto social dos investimentos e pensar em investimentos compartilhados.
Aqui, cabe uma explicação sobre a importância de fomentar a colaboração entre corporações no desenvolvimento de territórios vulneráveis. Temos visto, entre nossos clientes, interesses em comum nas mesmas localidades, mas há uma dificuldade de visualizar quanto esse capital, se usado conjuntamente, mudaria o ponteiro social. Para vencer esse desafio e trazer visibilidade ao potencial impacto, a Simbi desenvolveu o Mapa de Demanda Social.
Essa ferramenta reúne mais de 220 indicadores de fontes renomadas, como Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e Instituto Cidades Sustentáveis, entre outros. A finalidade é permitir que as empresas investidoras tenham uma visão clara do panorama local. Com base em dados confiáveis, essas corporações podem direcionar os recursos para territórios que requerem maior atenção, maximizando o impacto social dos investimentos.
Em última análise, há um debate a ser feito, globalmente, sobre o papel da filantropia contemporânea, de qualquer vertente. A pergunta central é se ela atende à redução de danos ou se está a serviço da transformação positiva da sociedade. No Brasil, com os desafios de capital escasso no campo, qualificar o investimento social e discutir como potencializar a cultura de doação são pontos críticos para avançarmos rumo a uma filantropia efetiva –aquela com um olhar sistêmico para o desenvolvimento do país. O
Paula Fabiani é CEO do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social
MARK KRAMER E STEVE PHILLIPS trazem uma discussão corajosa e relevante para o setor filantrópico, que contribui para fazer avançar as práticas de investimento social. Apesar do aumento substancial das doações nos Estados Unidos nas últimas décadas, quase não se percebem mudanças estruturais provocadas por esses recursos.
Aqui no Brasil, temos a mesma discussão, em especial, em relação à educação, que concentra a maioria dos investimentos filantrópicos. Os autores questionam a crença segundo a qual os mais vulneráveis não são capazes de resolver seus próprios problemas e que os grandes doadores têm a sabedoria necessária para solucionar os desafios sociais. Esse viés tem relação com a discussão sobre a decolonização da filantropia, conceito debatido por Edgar Villanueva e outras lideranças, no Brasil e no mundo.
Kramer e Phillips desmontam narrativas estereotipadas, como a ideia de que a pobreza é resultado de falhas individuais. Infelizmente, vemos no Brasil filantropos focados no conceito da meritocracia, sem levar em conta as barreiras que a estrutura socioeconômica impõe aos mais vulneráveis. Essa crítica é essencial para mudar a forma como a sociedade e os doadores percebem e abordam a filantropia.
Existem hoje evidências para sustentar que a filantropia estratégica deve buscar escutar seu público-alvo e torná-lo protagonista, para um caminho mais efetivo de transformação positiva. Ela deve se voltar para as necessidades dos receptores do impacto e, portanto, sempre partir de um processo de escuta efetiva desse grupo para considerar suas vozes na tomada de decisão sobre soluções e caminhos. Atualmente a tecnologia é uma grande aliada nesse processo, apesar de seus limites em capturar subjetividades, que emergem plenamente apenas em interações humanas.
O conceito de “empoderamento para o progresso social” é bem colocado. Ao sugerir que a filantropia deve mirar a capacitação econômica e política dos indivíduos, para que estes possam tomar decisões por si mesmos, os autores apresentam um caminho que pode levar a mudanças mais duradouras e sustentáveis. O conceito de shift the power e o de filantropia comunitária são expressões desse empoderamento.
No Programa Transformando Territórios, coordenado pelo Idis, e na Aliança Territorial da Rede Comuá temos exemplos de diversas organizações que buscam o que os autores chamam de empoderamento para o progresso social. A Redes da Maré fornece, com seu fundo comunitário, um exemplo de organização que, além de incidir sobre o poder público, opera projetos para desenvolver a autonomia de seu público-alvo para resolver seus problemas. Vale também mencionar o Guia das Periferias da Iniciativa Pipa, que traz possíveis caminhos para os doadores que buscam ampliar a pluralidade em suas atuações.
Doadores dedicam recursos financeiros de forma voluntária e, portanto, têm a liberdade de escolher as suas causas. A filantropia corporativa em geral busca um alinhamento aos negócios, e os filantropos familiares têm desejos e anseios ligados à sua história e valores. A liberdade de escolha de causas é um princípio inerente à prática filantrópica.
No Brasil, temos organizações e projetos voltados para causas bem específicas, como saúde mental, caso do Instituto Cactus; fortalecimento do Sistema Único de Saúde nas regiões Norte e Nordeste, promovido pelo Juntos pela Saúde, e o combate à fome, caso do Pacto contra a Fome. Entidades e projetos dedicados a combater as mudanças climáticas também são de extrema importância.
Encontramos igualmente, no país, iniciativas alinhadas à conscientização política e à autonomia econômica propostas por Kramer e Phillips. Há organizações que buscam capacitar líderes do poder público, como RenovaBr e Motriz, e o Projeto Pretas no Poder, do Instituto Odara, que busca um aumento do número de mulheres negras no Congresso. A Rede Mulher Empreendedora é também um exemplo relevante.
Todas essas iniciativas buscam seguir as orientações de uma filantropia estratégica, mas nem todas dentro dos temas defendidos pelos autores. Conceitualmente, essa abordagem apresenta caminhos para aumentar a efetividade das mudanças geradas, mas não define causas determinadas. Como o próprio Kramer e outros autores explicam no artigo “Strategic Philanthropy for a Complex World”, “a filantropia estratégica deve ter metas claras, estratégias baseadas em dados, prestar contas e conduzir avaliações rigorosas”.
A provocação de que a filantropia estratégica deveria centrar seus recursos no engajamento político e no empoderamento econômico a fim de construir uma democracia multirracial é muito relevante e contemporânea, mas os autores não apresentam uma análise da potencial aderência de doadores que garantisse a sustentabilidade financeira dessa abordagem a longo prazo.
Questões como o perfil dos doadores, a quantidade de recursos necessários e as possíveis fontes de financiamento e estratégias para garantir o sucesso dessa abordagem mereceriam exploração mais profunda. Nos Estados Unidos, como aqui, elas podem configurar barreiras à proposta dos autores.
Além disso, vale mencionar que o giro que os autores propõem requer investimentos contínuos para gerar mudanças permanentes. Vemos com frequência fundações mudarem seus focos e estratégias ao longo do tempo.
A dificuldade para medir o impacto dessa filantropia de empoderamento é outro fator que pode levar doadores a se afastarem desses investimentos. Muitos doadores condicionam seu apoio a resultados de curto prazo. Desenvolver e apresentar métricas específicas para avaliar essas iniciativas seria importante, a fim de convencer filantropos e stakeholders sobre a eficácia dessa abordagem.
Outra saída seria trazer longevidade a organizações independentes e projetos que defendessem a bandeira de empoderamento, fortalecendo seus fundos patrimoniais (endowments). O Pacto pela Promoção da Equidade Racial é um exemplo de organização que necessitará de décadas de atuação para gerar as mudanças que busca. Com o estabelecimento de seu endowment, o Fundo Baobá dá mostras bem-sucedidas dessa estratégia.
Outra alternativa seria o aprofundamento da discussão a respeito de como a filantropia pode efetivamente influenciar políticas públicas. Financiar o levantamento de dados sobre o impacto positivo de iniciativas e apoiar o desenvolvimento de tecnologias e melhores práticas é um caminho. Entretanto, isso pode ser dificultado pelo fato de que, muitas vezes, o meio filantrópico prefere se distanciar do poder público.
O artigo traz uma discussão muito enriquecedora, com exemplos e informações que reforçam que, como sociedade, devemos refletir se a filantropia, para ser estratégica, não deveria conside-
rar determinadas causas como fundamentais. Cada país terá as suas, e conhecê-las com profundidade é primordial. Por exemplo, apesar de os Estados Unidos e o Brasil compartilharem a presença do racismo estrutural, as raízes são distintas em cada caso, bem como as consequências. Daí a importância de conhecer referências, e não simplesmente importar (e impor) soluções.
Por fim, não devemos nos esquecer de que a filantropia é uma escolha individual, que reflete os valores do indivíduo, família ou corporação. E esse direito de escolha também deve ser respeitado. O
Eliana Sousa Silva é diretora fundadora da Redes da Maré; Gisele Ribeiro Martins é coordenadora do setor de captação de recursos e relacionamento institucional da organização
O CAMINHO DA FILANTROPIA NO BRASIL ainda é pouco claro quanto aos seus objetivos e alcance. Há enormes desafios para que determinados setores da sociedade civil a acessem, tornando sua viabilidade prática algo, muitas vezes, inalcançável. De forma geral, temos grande potencial para desenvolver uma cultura de doação, como mostrou o período da pandemia, mas isso não se configurou como algo consistente e perene após o período de disseminação mundial do coronavírus.
A Redes da Maré, instituição de base comunitária, fundada na sua maioria por pessoas com origem em alguma das 15 favelas da Maré, no Rio de Janeiro, é um exemplo genuíno da facilitação do acesso a recursos na pandemia. Grandes filantropos, historicamente inatingíveis, se dispuseram a doar diretamente a organizações com atuações territoriais que, até então, não haviam acessado um volume significativo de recursos para seus projetos.
Essa mudança por parte dos doadores foi determinante para mitigar os efeitos do coronavírus, especialmente junto às populações empobrecidas. Muitas ações se espalharam, com resultados concretos. A Redes da Maré foi uma delas, chegando a contribuir com mais de 20 mil famílias, em muitas frentes de trabalho, relacionadas a segurança alimentar, prevenção em saúde, geração de renda, comunicação, entre outras.
Com longa atuação na região das favelas da Maré, que reúne 140 mil pessoas – maior que 96,4% das 5.565 cidades brasileiras –, a Redes da Maré tem buscado, na sua trajetória institucional voltada para o desenvolvimento territorial, constituir um projeto que, de fato, contribua para a efetivação de direitos e materialização de uma melhor qualidade de vida dos moradores.
Os desafios são enormes quando pensamos nas muitas violações de direitos que ocorrem no bairro Maré, em função da existência de redes ilícitas e criminosas e, ainda, pela negligência histórica por parte dos governos em relação à garantia de políticas públicas.
Nesse contexto, a Redes da Maré, como outras instituições da sociedade civil, tem exercido papel fundamental no que concerne à produção de conhecimento, à mobilização e à articulação comunitária, à formulação de projetos e, também, na incidência junto aos governos. Mas há um longo caminho a ser percorrido quando pen-
samos, de forma estrutural, sobre os obstáculos que precisamos transpor; o próprio Estado é um dos maiores violadores de muitos dos direitos que os habitantes da Maré precisam acessar.
Uma reflexão crítica sobre nossa atuação histórica como moradores de favelas e ativistas nos mostrou o quanto precisamos mudar em termos de estratégia e de modo de fazer a mudança. Incessantemente lutamos e inventamos caminhos para que aconteçam transformações no âmbito da garantia de direitos tão básicos quanto o próprio direito de existir.
Nessa perspectiva, nosso trabalho, inicialmente pautado na realização de projetos, muitas vezes pulverizados em ações, por mais relevância que tenha, precisa atingir dimensão estrutural. Temos de pensar, de forma urgente, estratégias de trabalho que estejam politicamente calcadas no enfrentamento das desigualdades sociais e territoriais.
É preciso enfrentar a inércia dos governos e cobrar sua responsabilidade constitucional de efetivar políticas públicas com igualdade de oportunidades para o conjunto da população. Do contrário, podemos desenvolver projetos lindos e significativos para as populações de favelas sem jamais ver a verdadeira transformação social.
Esse olhar crítico sobre nosso próprio trabalho tem nos levado a tentar entender o porquê de tanto desperdício de recursos – não só no âmbito dos governos, mas também no setor da filantropia.
Às vezes, nos indignamos ao constatar que muitos projetos da sociedade civil, desenvolvidos de forma genuína e com intenções claras de mudanças, não conseguem influenciar aqueles que decidem o direcionamento de recursos. São camadas invisíveis que fazem com que grupos que detêm os recursos – os ricos, no caso da filantropia brasileira – se coloquem num lugar de poder, inspirados, na sua maioria, no modelo predominante dos Estados Unidos. Estes acreditam saber onde suas doações devem ser usadas. O fato de disporem dos recursos lhes dá o poder e a justificativa para decidir – na maioria dos casos, sem coerência com o contexto – a melhor forma de aplicá-los. Diálogo com o beneficiário direto é algo que não faz parte da prática dos doadores no Brasil.
Com esse olhar, definimos que a sustentabilidade de nosso trabalho nas favelas da Maré passava pela constituição de um fundo patrimonial. Sempre nos chamou atenção o fato de determinadas instituições terem um capital aplicado, cujos rendimentos lhes permite definir prioridades e fazer escolhas de atuação. Constatamos, também, que essas organizações foram criadas, historicamente, por pessoas que detêm fortunas, movidas pelo desejo central de deixar um legado – sendo este, certas vezes, direcionado para um interesse individual e/ou familiar, ligado a alguma causa ou território.
O Fundo Comunitário da Maré nasceu da nossa aspiração de sustentar um trabalho que tem raízes profundas no enfrentamento das desigualdades territoriais e sociais.. Não dispomos de uma fortuna a partir da qual escolher como tornar nossa atuação mais estratégica. Ao contrário, buscamos os meios para a manutenção cotidiana de projetos e ações que possam nos levar às transformações requeridas nas favelas da Maré.
A viabilidade desse plano vem sendo pensada desde 2018, quando nos debruçamos um pouco sobre a gênese dos fundos
patrimoniais e seus sentidos mundo afora. Logo no início percebemos que não seria fácil criar tal mecanismo no maior conjunto de favelas do Rio. Ao mesmo tempo, ficou evidente a necessidade da inovação e adequação ao contexto. Nossa riqueza e legado eram o nosso trabalho duradouro, como moradores de favelas e ativistas, pela efetivação de nossos direitos mais básicos.
Compreendemos que o movimento de criação do fundo teria de ser orgânico. Nossa capacidade de sistematizar a relevância, a idoneidade e os impactos gerados até agora permitiriam sua constituição. Precisávamos sair à busca de possíveis doadores que, conhecendo o trabalho, passassem a desejar ser parte dele.
O Fundo Comunitário da Maré foi formalizado em 2022 e tem quatro objetivos básicos:
1) dar sustentabilidade concreta ao trabalho de desenvolvimento territorial construído pela Redes da Maré, ao longo do tempo;
2) investir de forma sistemática em indivíduos, lideranças, coletivos e instituições que tenham como prioridade de atuação um olhar territorial para o conjunto de favelas da Maré e comunguem de valores e práticas para o cumprimento de uma agenda de desenvolvimento sustentável e participativa na região;
3) fomentar a qualificação técnica e política dos diferentes agentes da sociedade civil local, de modo a garantir práticas republicanas e democráticas no acesso e uso dos recursos do fundo;
4) ousar na materialização de uma agenda de transformações urgentes na região das 15 favelas da Maré.
O fundo está estruturado a partir de uma governança que passou pela constituição dos conselhos de investimento e de projetos. Foi feita uma projeção inicial dos recursos necessários para formar o patrimônio, além de um escalonamento para a captação do valor básico a ser adquirido para permitir o início das atividades a partir dos rendimentos do fundo.
Uma vez estabelecidos os objetivos e metas de captação, conseguimos atingir o primeiro patamar para constituir o fundo. Nove doadores se mostraram sensíveis e abertos a conhecer o trabalho da Redes da Maré e à relevância de um fundo patrimonial que permitisse o acesso e a gestão de recursos de forma autônoma, a partir de uma instituição de base comunitária, como é o nosso caso.
A experiência tem nos mostrado a necessidade de repensar o sentido, o alcance e o futuro da filantropia no país e fora dele. De fato, a reflexão sobre quem decide o destino e o uso dos recursos precisa ser deslocada.
Enquanto houver uma concentração de poder e decisão nas mãos de quem detém os recursos materiais e humanos, será difícil considerar a dimensão dos impactos estruturantes que a filantropia poderia ter no enfrentamento das desigualdades. Trabalhar para reconhecer o papel que a filantropia pode ter nesse quadro e colocar em prática o compartilhamento dos recursos é o primeiro passo para buscarmos a possibilidade de equidade social no país.
Essencialmente, o que precisa ser compreendido é que cabe às pessoas e grupos socialmente vulnerabilizados decidir as estratégias para usar os bens que precisam acessar com urgência. Em muitos casos, elas dizem respeito a direitos negados pelo racismo estrutural, situação que não temos mais como aceitar. O
Feita por e para líderes de transformação
social de todo o mundo e de todos os setores
Unindo o melhor da teoria e da prática da inovação social, a SSIR Brasil é uma plataforma de debates sobre a transformação social no país.
Junte-se a essa iniciativa e apoie uma publicação que fala com os mais influentes agentes de mudança no Brasil e no mundo.
Confira as oportunidades de apoio, fomento e patrocínio
contato@ssir.com.br

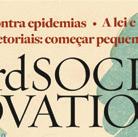


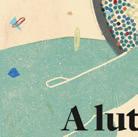
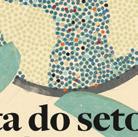


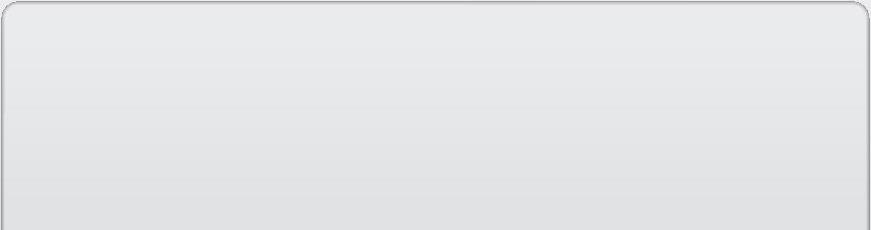




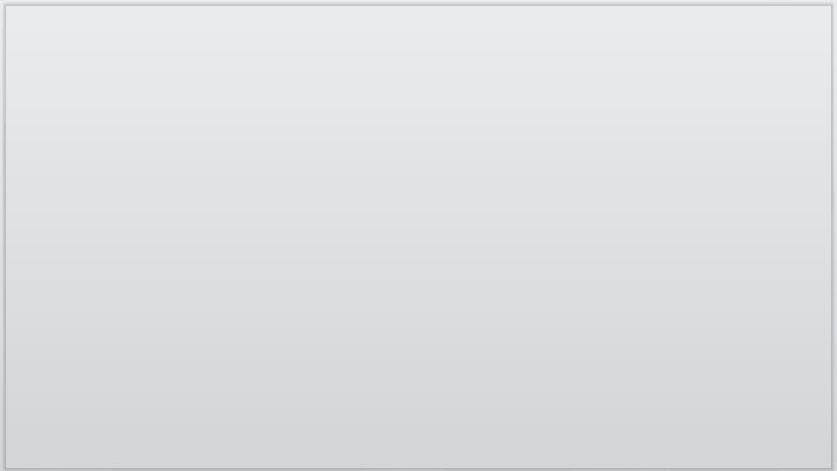

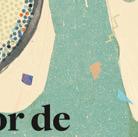


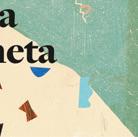






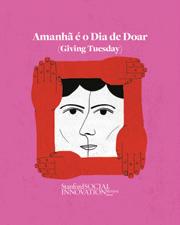






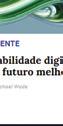
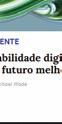
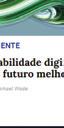


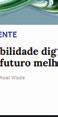
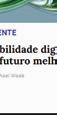
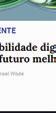
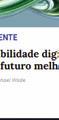



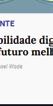
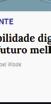
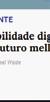





















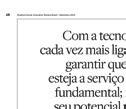
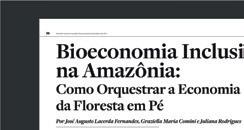
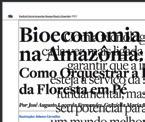

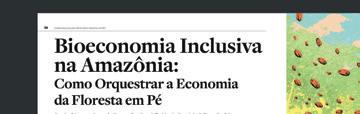

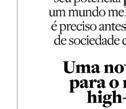
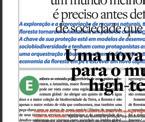

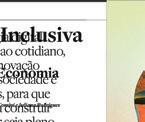























Com o apoio dos nossos mantenedores, todo o conteúdo da plataforma é gratuito





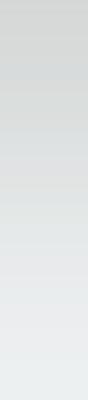
De mudanças climáticas a ameaças à segurança nacional, os problemas que o mundo enfrenta são grandes demais para serem solucionados apenas por governos. Parcerias público-privadas mostram como a colaboração entre setores pode catalisar e potencializar a inovação
Por Kathleen Kelly Janus ILUSTRAÇÕES DE JOAN WONG
AO FIM DE UMA PENA DE 14 MESES EM UM CENTRO DE DETENÇÃO na Califórnia, Latonya Mosby, 39 anos, saiu sem ter onde morar e com um quadro de depressão e ansiedade. Como muitos ex-detentos, era esperado que Mosby tivesse pouquíssimo apoio na reinserção à sociedade. Sem assistência para conseguir moradia, capacitação profissional e outras formas de apoio, cresce a probabilidade de que a pessoa volte a ter problemas com a Justiça. Não surpreende, portanto, que as taxas de reincidência criminal nos Estados Unidos estejam entre as mais altas do mundo: 44% dos que cumprem pena de reclusão voltam à prisão menos de um ano depois de soltos. É uma dinâmica injusta, que priva famílias de sua fonte de renda e que, no caso específico da Califórnia, custa caro para o contribuinte: US$ 132.860 ao ano por detento.
Por que publicamos este texto
O artigo analisa as PPPs didaticamente e traz exemplos e recomendações práticas. Suas ponderações, embora calcadas no caso da Califórnia, são úteis para repensar e aprimorar o uso desse instrumento, cada vez mais frequente no contexto nacional.

A Califórnia queria romper esse ciclo. Em 2020, a agência responsável pelo sistema penitenciário no estado, o Departamento de Correções e Reabilitação, se aliou a outro órgão, o Departamento de Serviços Sociais, e a um grupo de entidades filantrópicas e organizações sem fins lucrativos para criar um modelo chamado de Returning Home Well (hoje rebatizado de Returning Home Well Housing), a fim de garantir moradia, capacitação profissional, assistência psicológica e tratamento em caso de dependência química para ex-detentos, além de auxílio financeiro para facilitar a reinserção na sociedade. Graças a essa parceria público-privada (PPP) e ao apoio integrado que recebeu, em poucos meses Mosby tinha restabelecido o contato com os dois filhos e voltado a ser parte ativa da comunidade.
O Returning Home Well Housing só foi possível por causa de uma parceria da Califórnia com mais de 20 instituições nacionais que trabalham para a reforma da justiça criminal, entre elas a Fundação Ford, o Fundo Meadow, a Charles and Lynn Schusterman Family Philanthropies e a Fundação Rosenberg. Esse capital privado, livre de restrições, trouxe flexibilidade para que o governo estadual pusesse rapidamente em ação esse modelo inovador, com o apoio operacional de mais de 200 prestadores de serviços consagrados e coordenados pelo Center for Employment Opportunities e a Fundação Amity. A Califórnia lançou o programa em caráter experimental em 2020 com 13.817 indivíduos. O governo aproveitou verbas flexíveis de um plano federal, o American Rescue Plan, para alocar US$ 22 milhões para moradias de curto prazo para recém-libertados. A comunidade filantrópica investiu US$ 20 milhões em capacitação profissional e assistência médica, além de um auxílio mensal de US$ 1.500 para egressos poderem
Tão comum quanto a ausência de serviços para egressos é o dilema enfrentado por governos na hora de testar novidades como o Returning Home Well Housing. Embora inovar sempre traga riscos, autoridades não podem errar com o dinheiro do contribuinte. Além disso, o aparato burocrático costuma gerar entraves à inovação e, com isso, asfixia programas públicos.
A capacidade de converter de modo estratégico e eficiente um programa piloto em política pública é a grande meta do setor social. O problema é que iniciativas do setor privado, sejam elas lideradas por entidades filantrópicas, organizações sem fins lucrativos ou empresas, sempre irão produzir resultados em menor escala quando comparadas com iniciativas de um governo – e, não raro, estão desconectadas demais do poder público para serem adotadas por meio de novas políticas. Em suma, essa abordagem jamais bastará para resolver um problema social. Já programas estatais são gigantescos, mas, sem a agilidade do setor privado, não há nem inovação, nem a adoção em grande escala de novos modelos. Precisamos de ambos.
Ao longo da minha carreira, investi em organizações comunitárias na condição de fundadora, voluntária, doadora, advogada e integrante de conselhos. Sou professora de inovação social na Universidade Stanford e, durante anos, estudei como as melhores entidades sem fins lucrativos ganham escala – estudos que serviram de base para meu livro Social Startup Success: How the Best Nonprofits Launch, Scale Up, and Make a Difference. Minha conclusão é que não faltam problemas importantes – mudança climática, pobreza, falta de moradia – nem gente talentosíssima disposta a resolvê-los. Mas até organizações de alto sucesso, com ideias inovadoras para melhorar a vida das pessoas e equipes tra-
Embora na maior parte dos lugares os setores público e privado trabalhem de forma segregada, na Califórnia ajudamos a criar uma máquina de PPPs para permitir aos setores explorar as vantagens e os recursos mútuos e, assim, ajudar mais pessoas
arcar com despesas do dia a dia durante a participação nos programas de inserção no mercado de trabalho. Juntos, esses programas ajudaram participantes a conseguir empregos de longo prazo, algo necessário para romper o ciclo de reincidência. O sucesso do Returning Home Well Housing foi tamanho que o governador do estado, Gavin Newsom, dedicou cerca de US$ 30 milhões do orçamento de 2023, a serem desembolsados ao longo de três anos, para transformar o piloto em um programa mais permanente. Newsom também concluiu que o recurso para despesas básicas era fundamental para a capacitação laboral e criou uma política – pioneira no país – que permite a organizações de formação profissional distribuir fundos estaduais na forma de auxílio financeiro.
balhando incessantemente para tirá-las do papel, alcançam apenas uma reduzida parcela da população-alvo.
Promovendo PPPs na condição de primeira assessora sênior de inovação social da Califórnia, de 2019 a 2022, pude ver em primeira mão que, quando se governa com parcerias, o impacto é a um só tempo imediato e exponencial.
Na gestão Newsom, ajudei a conduzir mais de 50 parcerias público-privadas que totalizaram US$ 4,2 bilhões em investimentos, mudando a vida de milhões de californianos. Nessas parcerias, ajudamos 27 departamentos e agências a trabalhar com 202 parceiros dos meios empresarial e filantrópico e com mais de 1.600 organizações comunitárias. Nosso sucesso não está só nas cifras, mas também no modo como atuamos. Embora na maior
A seguir, trato em detalhe dos instrumentos que trouxeram tanto sucesso ao programa de parcerias da Califórnia. Uma boa PPP tem quatro componentes essenciais: construção de relacionamentos, liderança pública e privada, busca de soluções reais para problemas reais e comunicação de impacto. Além disso, trago lições tiradas de nossos triunfos e desafios para ajudar lideranças de governos municipais, estaduais e federais, bem como organizações sem fins lucrativos, entidades filantrópicas e empresas, em suas próprias PPPs.
DEFINO PPP COMO UMA RELAÇÃO estratégica entre governo, empresas, entidades filantrópicas e/ou organizações sem fins lucrativos para resolver problemas sociais de forma colaborativa. Essa parceria pode assumir diversas formas, dependendo da natureza do investimento e da participação exigida do governo e da iniciativa privada. Em certos casos, como o do compartilhamento de informações, há maior autonomia; já em outros, como de coinvestimento, há mais integração (ver quadro à pág. 49). Em todos eles, é essencial que entes públicos e privados se comuniquem regularmente, compartilhem recursos e estejam alinhados estrategicamente.
Nos Estados Unidos, as três escalas de governo criaram, nas duas últimas décadas, a infraestrutura necessária para as parcerias. De 2002 a 2013, o então prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, liderou uma das iniciativas de maior sucesso no âmbito municipal, o Mayor’s Fund to Advance New York City, que arrecadou quase US$ 400 milhões e mobilizou 40 órgãos e secretarias do município para bancar mais de cem programas públicos – incluindo a criação de centros de justiça da família que coordenaram serviços para mais de 93 mil vítimas de violência doméstica e a arrecadação de mais de US$ 60 milhões para lidar com os efeitos do furacão Sandy. Ao final do mandato, a organização filantrópica de Bloomberg montou uma equipe dedicada a promover o modelo, dando assessoria a dirigentes municipais sobre estruturas e estratégias em cidades ao redor do mundo – de Los Angeles a Atenas.
Michigan foi o primeiro estado americano a instituir uma secretaria de relações com fundações, o Gabinete do Governador para Relações com Fundações (OFL, na sigla em inglês), para buscar e intermediar parcerias inovadoras de financiamento e colaboração estratégica entre o poder estadual e o mundo da filantropia. Desde sua criação, em 2003, o OFL já obteve apoio privado para iniciativas voltadas a aumentar a competitividade econômica de Michigan com reformas no desenvolvimento e na educação da primeira infância, ensino básico, preparação para a universidade e para a vida profissional, saúde e bem-estar e capacitação da força de trabalho. Partindo do modelo de Michigan, a Califórnia, a Carolina do Norte e Maryland criaram secretarias
similares e/ou postos de interlocução para fazer a ponte entre governo e iniciativa privada. Juntas, essas iniciativas levantaram bilhões de dólares em fundos privados que se somaram a bilhões em verbas públicas para bancar dezenas de parcerias em temas prioritários, como pobreza infantil e acesso à moradia.
No plano federal, o governo Barack Obama inaugurou, em 2009, o primeiro Gabinete de Inovação Social e Participação Cívica, um órgão que buscava promover resultados concretos em temas prioritários para a sociedade identificando e expandindo soluções eficazes com capital público e privado. Além disso, órgãos do governo federal – como o Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano (HUD, na sigla em inglês) e o Departamento de Estado – criaram diretorias de parcerias estratégicas hierarquicamente equivalentes para coordenar ações com o governo federal. Em 2014, por exemplo, o Gabinete de Inovação Internacional e Filantrópica do HUD lançou, em parceria com a Fundação Rockefeller, uma espécie de concurso para ajudar comunidades a desenvolver soluções para a recuperação após desastres naturais. Recentemente, a secretaria de parcerias do Departamento de Estado se aliou à Câmara de Comércio dos Estados Unidos para alinhar iniciativa privada e governo federal no apoio à recuperação econômica da Ucrânia.
Apesar do crescimento e do sucesso de PPPs em todas as esferas de governo, esse tipo de parceria não serve para todo e qualquer problema do setor público (ver quadro à pág. 50). Certas atividades, como distribuição de benefícios sociais básicos, educação ou segurança pública, devem permanecer sob responsabilidade do governo. Além disso, mesclar somas relativamente baixas de capital filantrópico com volumes maiores de fundos públicos não otimiza o uso do capital privado. Parcerias são mais adequadas para empregar recursos do setor privado, menos sujeitos a restrições, como capital de risco, para conceber e testar abordagens novas que o governo possa adotar e rapidamente lançar em escala maior.
Além disso, parcerias não são um substituto para políticas públicas. Às vezes, a maneira mais eficaz de melhorar um programa de governo não é destinar mais recursos, mas modificar políticas que não estão dando bons resultados.
Por último, a meta de parcerias não é buscar recursos privados para suprir lacunas do orçamento público. É, antes, utilizar a diversidade coletiva de recursos – incluindo know-how, verba e comunicação coordenada – para promover alinhamento em torno de políticas e programas e, com isso, produzir mais impacto.
FATORES DO SUCESSO
ARA CADA OPORTUNIDADE DE PARCERIA que ajudei a criar no governo Newsom, houve centenas de outras que nunca se concretizaram. Desse vasto trabalho, extraí quatro fatores fundamentais para uma parceria de sucesso: construção de relacionamentos, liderança pública e privada, criação de soluções reais para problemas reais e comunicação do impacto.
Construção de relacionamentos | O sucesso de uma parceria depende de relações sólidas, fundadas na confiança. Para isso, é preciso que os envolvidos se reúnam pessoalmente, troquem conhecimentos e aprendam com suas mútuas experiências, para parte dos lugares os setores público e privado trabalhem de forma segregada, na Califórnia ajudamos a criar uma máquina de PPPs para permitir aos setores explorar as vantagens e os recursos mútuos e, assim, ajudar mais pessoas.
identificar prioridades comuns. Além disso, é necessário que mantenham uma comunicação estreita para aproveitar boas oportunidades. Trabalhei com muita gente do governo e do setor privado que queria criar estratégias de parceria sem firmar relacionamentos para trabalhar em colaboração com distintos setores. Por isso, não conseguiam tirar a ideia do papel. Cada parceria que criamos envolveu um esforço contínuo nesse sentido – antes, durante e depois de sua formalização.
Durante meus primeiros seis meses no governo Newsom, estive com mais de cem diretores de entidades filantrópicas e visitei 16 cidades para ouvir a população. Falei com tribos indígenas no condado de Del Norte, na fronteira norte da Califórnia, com organizações de imigração em Tijuana, na fronteira sul, e com mais de 750 entidades estado afora. Esse contato em campo foi fundamental para entender como cada comunidade buscava soluções para seus próprios problemas.
de até duas semanas nesses quartos ociosos. O projeto, batizado de Roomkey, era voltado a indivíduos em situação de rua que tivessem contraído o vírus, que tivessem sido expostos a ele ou que tivessem maior risco de infecção.
O programa Homekey nasceu do sucesso dessa iniciativa. Nele, o governo propôs autorizar instâncias locais a adquirir esses imóveis para conversão, em caráter permanente, em residências transitórias e novas moradias temporárias. Newsom destinou US$ 3,75 bilhões de dois programas públicos para a compra dos imóveis. Apesar de elevar o estoque de moradias, o Homekey foi alvo de ceticismo pelos governos locais, porque exigiria emprego de verba considerável para serviços complementares, como apoio à saúde mental e tratamento de dependências químicas, capacitação profissional e suporte na transição para moradias mais permanentes. Além disso, em vários casos eram necessários recursos adicionais para a reforma dos imóveis.
O programa Homekey, que transformou quartos de hotéis e motéis em moradia, foi alvo de ceticismo pelos governos locais, mas mostrou como a construção de relacionamentos pode catalisar colaborações de enorme impacto
Esse processo estabeleceu conexão e a confiança de valor inestimável para futuras parcerias, especialmente durante o confinamento na pandemia, quando visitas ou reuniões presenciais não foram possíveis. Um exemplo de sucesso decorrente desses relacionamentos foi o programa Homekey, criado em 2020 pelo governo Newsom.
O programa de aquisição de hotéis visava não só abrigar indivíduos em situação de rua ou de vulnerabilidade habitacional, mas também apoiar essa população na transição para moradias de longo prazo. Em 2019, Newsom foi falar com CEOs de algumas das maiores empresas com sede na Califórnia, incluindo Apple e Facebook, e conseguiu deles a promessa de US$ 3,5 bilhões em recursos para investir em moradias acessíveis. Outras dezenas de empresas de grande porte queriam ajudar, embora não pudessem doar tanto. No segundo semestre de 2019, fizemos uma mesa-redonda sobre habitação com o governador e presidentes dessas outras empresas – Airbnb e United Airlines, entre outras – para explorar oportunidades de parceria. Saímos todos animados da reunião, embora à época não tivéssemos uma meta clara.
Seis meses depois, quando a Califórnia entrou em confinamento, encontramos a meta. Uma das maiores preocupações do estado era que o vírus se espalhasse por abrigos de sem-teto – refúgio de mais de 40 mil pessoas. Como o turismo tinha sido paralisado, havia muitos quartos vazios em hotéis e motéis. O governo propôs, então, usar recursos da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências (Fema, na sigla em inglês) para bancar estadias
Felizmente, devido ao relacionamento que Newsom tinha estabelecido com lideranças de empresas com sede no estado, conseguimos arrecadar US$ 65 milhões de companhias e entidades diversas – como Kaiser Permanente, Inciativa Chan Zuckerberg Initiative e Meta – para ajudar a bancar esses serviços e reformas. Acionamos a Enterprise Community Partners, uma incorporadora de moradias acessíveis sem fins lucrativos, para concentrar os fundos e trabalhar ao lado do Departamento de Habitação e Desenvolvimento Comunitário da Califórnia (HCD) para alocar essa verba filantrópica como complemento às operações normais. Essa parceria deu maior flexibilidade e recursos para muitos governos municipais implantarem o Homekey.
Com o Homekey, foi possível financiar 250 projetos locais, totalizando mais de 15 mil unidades habitacionais que, ao longo do tempo, atenderão mais de 160 mil pessoas. Além disso, o custo médio por unidade para o Homekey foi de aproximadamente US$ 200 mil, bem abaixo do custo médio de mais de US$ 500 mil para construção de novas unidades residenciais no estado. Para o principal assessor de habitação do governo Newsom, Jason Elliott, o maior impacto da parceria foi sua contribuição para uma mudança sistêmica de longo prazo. “Graças ao Homekey, jamais voltaremos ao antigo modelo de construção de moradias no estado, pois mudamos a percepção do que é possível e fizemos as pessoas enxergarem meios de gerar moradias acessíveis de modo rápido e eficiente.” O Homekey mostrou como a construção de relacionamentos entre lideranças estaduais
e filantrópicas pode catalisar colaborações de enorme impacto. Primeiro, meu giro pelo estado me permitiu entender a fundo as necessidades de cada comunidade e forjar relações para fazer esse projeto avançar. Segundo, mantive uma comunicação regular com parceiros por meio de mesas-redondas, reuniões individuais e de um grupo de trabalho sobre moradia e população sem-teto – de modo que, surgida a oportunidade da parceria, pude rapidamente identificar quem poderia se interessar. Terceiro, e talvez o mais importante, agi como uma espécie de tradutora tanto para meus colegas no governo quanto para parceiros do meio filantrópico, já que muitas vezes um setor desconhece as metas do outro (ver quadro à pág. 50).
Graças aos relacionamentos que fui forjando e à experiência tanto em políticas públicas como no mundo sem fins lucrativos, consegui discernir objetivos e pontos nevrálgicos de cada setor,
ajudar os envolvidos a identificar onde cada um poderia ter mais impacto e facilitar a coordenação. Por último, a coordenação regular entre a Enterprise Community Partners e o HCD foi fundamental para garantir a distribuição eficaz de recursos da filantropia para projetos do estado.
Entidades interessadas em estabelecer e aprofundar relacionamentos para criar parcerias devem destacar alguém para servir de elo com o mundo externo e manter uma comunicação regular com parceiros públicos e privados, atuar internamente como um tradutor que ajude colegas a identificar e aproveitar oportunidades de parceria e treinar tanto o pessoal interno como o voltado ao público externo.
Liderança pública e privada | Uma boa PPP exige lideranças de ambos os lados. Embora possa parecer algo óbvio, já vi várias colaborações não darem certo porque uma das instâncias foi excessivamente solícita – ou autoritária.

Para conseguir esse apoio recíproco, três atores devem exercer um papel de liderança: alguém designado pelo governo para criar alinhamento com programas e políticas públicas; alguém do meio filantrópico que ajude a arrecadar e a coordenar recursos de fundações; e um ente intermediário – em geral, uma entidade sem fins lucrativos – para administrar a parceria e garantir que sua ação esteja vinculada à comunidade a atender.
Peguemos outro exemplo da Califórnia, o do Immigrant Resilience Fund, um fundo de auxílio emergencial de US$ 150 milhões para imigrantes em situação irregular no país.
Em março de 2020, o Congresso aprovou a Lei Cares (acrônimo em inglês para ajuda, alívio e segurança econômica diante do coronavírus), que dava um auxílio de até US$ 1.200 por adulto e US$ 500 por criança. Indivíduos em situação irregular, porém, não foram contemplados – essas pessoas somam 10% da força de trabalho da Califórnia, e o governo Newsom estava decidido a estender o auxílio emergencial a todos, incluídos os sem documentação, que em geral estavam na linha de frente da resposta à pandemia em áreas como alimentação, saúde, indústria, construção, agricultura e transporte.
Ao mesmo tempo, eu tinha descoberto, em minhas conversas com lideranças filantrópicas, que o grupo Grantmakers Concerned with Immigrants and Refugees (GCIR) estava considerando criar um fundo para conceder auxílio em dinheiro para imigrantes em situação irregular.
Apenas um mês depois, esse contato com lideranças levou à criação de uma parceria entre o Immigrant Resilience Fund, um fundo filantrópico do GCIR na Califórnia, e o Disaster Relief Assistance for Immigrants, do
Departamento de Serviços Sociais (DSS) do estado, que investiu coletivamente US$ 150 milhões – capital-semente aportado pelo Emerson Collective, pela Fundação Blue Shield of California, pelo California Endowment, pela Fundação James Irvine, pela Iniciativa Chan Zuckerberg e, mais adiante, por MacKenzie Scott e cerca de 70 outras fundações. Isso permitiu dar a mais de 322 mil californianos em situação irregular um auxílio único de até US$ 1.000 por família. A parceria ajudou muitos a manter-se abrigados (segundo o GCIR, 64% do auxílio foi destinado a aluguel) e a ter comida na mesa – tanto que foi reproduzida em dezenas de cidades e estados país afora.
O Immigrant Resilience Fund da Califórnia não teria saído do papel sem que seus defensores dentro do estado (o próprio governador e o DSS) tivessem se comprometido com a iniciativa e liberado US$ 75 milhões em auxílio financeiro; sem um defensor externo no GCIR, que ajudou a arrecadar US$ 75 milhões de parceiros filantrópicos; e sem organizações intermediárias – mais de 70 organizações comunitárias de base que distribuíram o auxílio financeiro via cartão de débito a famílias carentes.
Uma liderança forte de todos os parceiros permite a comunicação contínua necessária para coordenar as operações. Durante meses, mantive contado diário com o GCIR, para ajudar a arrecadar fundos para o programa, e fizemos reuniões regulares entre o DSS e o GCIR para coordenar a distribuição dos recursos e chegar ao maior número possível de comunidades.
Parceria significa enfrentar problemas sociais com soluções criadas conjuntamente e recursos expressivos.
Os períodos de confinamento durante a pandemia provocaram crise econômica e perda generalizada de empregos no mundo todo. Na Califórnia, cerca de um em cada quatro habitantes, ou dez milhões de pessoas, conviveu com a insegurança alimentar (no caso de famílias negras e latinas, a cifra estava mais próxima de um a cada três). Ao mesmo tempo, com a maioria dos restaurantes fechados, agricultores tinham toneladas de produtos que não conseguiam vender. E, embora quisessem doar frutas e verduras à população carente, não podiam arcar com o custo de contratar trabalhadores para colher, embalar e entregar esses produtos a bancos de alimentos.
Com o Departamento de Agricultura e a entidade sem fins lucrativos California Association of Food Banks, ajudei a criar uma parceria voltada especificamente a apoiar o programa Farm to Family, utilizando US$ 2,86 milhões de fundos estaduais e federais e US$ 2,75 milhões em fundos filantrópicos para subsidiar a contratação de gente para colher o excedente da produção e motoristas para entregá-lo a bancos de alimentos. O estado da Califórnia liberou verbas adicionais para ajudar os bancos na distribuição em nível municipal. O esforço conjunto fez com que 22 bancos de alimentos recebessem mais de 13 milhões de quilos de frutas e verduras, ou 25 milhões de refeições a residentes em situação de insegurança alimentar. O aporte de fundos criou novos relacio-
Divulgar o impacto de uma PPP é fundamental não só para dar crédito a parceiros, mas também para garantir o futuro da colaboração. Cada triunfo deve ser uma espécie de solução de código aberto para que outros possam reproduzi-lo
A liderança comunitária, seja por organizações de base parceiras, intermediários ou quem quer que esteja mais próximo do problema, também exerce um papel fundamental. No caso em questão, a combinação de recursos públicos e privados permitiu que pudéssemos trabalhar com grandes organismos estaduais, bem como com organizações comunitárias menores que não tinham acesso a verbas públicas, mas eram interlocutores confiáveis junto a trabalhadores em situação irregular.
Criação de soluções reais para problemas reais | Parcerias de sucesso não dependem só de relações sólidas e lideranças fortes, mas também da determinação de todos de ir além da mera aparência de estar resolvendo problemas. Ouvi o caso de uma autoridade conhecida do governo federal americano que pediu ao dirigente de uma fundação uma contribuição financeira que ele pudesse mencionar logo depois, quando anunciaria uma nova política do governo. O doador se recusou, pois a autoridade estava confundindo as coisas: um comunicado de imprensa não é uma parceria.
namentos com produtores rurais e ajudou a expandir o programa Farm to Family, que hoje fornece 40% mais alimentos ao ano do que antes da pandemia. Só em 2023 foram 122 milhões de quilos de hortifrútis. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos se mirou nesse exemplo e investiu US$ 900 milhões em um novo programa, o Local Food Purchase Assistance, para permitir que governos estaduais e de terras indígenas adquiram regionalmente e distribuam alimentos e bebidas saudáveis e nutritivos. A verdadeira parceria vem depois do anúncio público. É muito trabalhosa toda a coordenação envolvida na implementação – garantindo o financiamento, o alinhamento entre programas estaduais e locais e que haja apoio às necessidades da comunidade. Buscamos uma concordância em torno dos desafios que queríamos resolver e utilizamos fundos privados flexíveis para apoiar uma estratégia inovadora para levar alimentos saudáveis a necessitados, ao mesmo tempo dando ocupação a trabalhadores rurais que, sem isso, estariam parados. Durante meses, fizemos reuniões
PPP pode se limitar à partilha de informações ou prever uma integração maior, incluindo a tomada conjunta de decisões e cofinanciamento de iniciativas
Troca de informações
Entidades filantrópicas e governo se reúnem periodicamente para partilhar informações estratégicas e trocar conhecimentos
Criação de redes
Entidades filantrópicas e governo se coordenam para congregar atores com metas comuns
Assistência técnica
Entidades filantrópicas oferecem know-how ou conhecimento para ajudar o governo a solucionar problemas
Intermediação Governo e entidades filantrópicas alinham respectivos esforços, e entidades filantrópicas contribuem como podem para atingir metas comuns
Cofinanciamento
Governo e entidades filantrópicas bancam iniciativas de modo coordenado
Integração total
Parceria compartilha tudo – decisões, financiamento, pessoal e outros recursos – para solucionar problemas
Fonte: “Catalyzing Collaboration: The Developing Infrastructure for Federal Public Private Partnerships”, 2014; conteúdo adaptado com permissão do Centro para Filantropia & Políticas Públicas da Universidade do Sul da Califórnia
semanais com o Departamento de Agricultura da Califórnia e a California Association of Food Banks para assegurar a continuidade do programa após a fase inicial.
Comunicação do impacto | Embora uma parceria seja mais do que um comunicado de imprensa, divulgar seu impacto é fundamental, não só para dar crédito a parceiros, mas também para garantir o futuro da colaboração. Cada triunfo deve ser uma espécie de solução de código aberto para que outros possam reproduzi-lo.
Em 2020, o governo da Califórnia e entidades filantrópicas desembolsaram, juntos, US$ 217 milhões para convencer a população a responder ao questionário do censo nacional – especialmente membros de comunidades racialmente marginalizadas, que confiam menos no governo por causa do uso indevido de dados no passado ou pelo temor de deportação de pessoas em situação irregular. A campanha alistou interlocutores confiáveis, como a Ethnic Media Services, fundações comunitárias e organizações de base, como United Ways of California e California Rural Legal Assistance, para explicar como os dados do censo influenciam o repasse de recursos federais para cada comunidade.
Mal sabíamos, à época, que aqueles mesmos interlocutores exerceriam um papel crucial na campanha para incentivar a população a se vacinar contra a covid. Na Califórnia, parte da equipe do escritório estadual do censo – incluindo um de seus principais dirigentes – migrou para o Departamento de Saúde Pública para comandar aquela que viria a ser uma das mais completas campanhas do país para conscientização da população sobre a doença. Colaboramos com um dos principais parceiros do estado no censo, o The Center at Sierra Health Foundation, para ajudar a distribuir US$ 23,3 milhões em subsídios estaduais entre 157 ONGs, com o intuito de educar populações vulneráveis sobre a segurança e a eficácia da vacina. Também trabalhamos juntos em uma campanha filantrópica do centro, a Vaccine Equity Campaign, que destinou US$ 21,1 milhões a 116 entidades que atuavam para aumentar o acesso a consultas e imunizantes e garantir
transporte, intérpretes, cuidado infantil e outras formas de apoio a populações pretas, pardas e indígenas.
O centro e o estado também fizeram uma parceria com o Public Health Institute (PHI) no projeto Together Toward Health. Essa iniciativa filantrópica de US$ 35 milhões, liderada pelo The California Endowment e a California Health Care Foundation, trabalhou com mais de 548 organizações comunitárias de base para criar e divulgar mensagens dirigidas a certas comunidade sobre testes, vacina e protocolos de segurança; para instalar unidades móveis de teste e imunização; e para coordenar o transporte para postos de vacinação.
Assim como no caso do censo, a comunicação foi essencial para a imunização. Os recursos filantrópicos flexíveis que ajudamos a levantar com a Together Toward Health e a Vaccine Equity Campaign foram fundamentais para alcançarmos pequenas organizações com excelente trânsito entre comunidades vulneráveis da Califórnia. Graças a essa mobilização, houve um aumento de 34% na adesão à vacinação nessas áreas. O Todec Legal Center apostou na confiança conquistada ao longo de décadas de trabalho com imigrantes para convencê-los a se vacinar, instalando centros móveis de vacinação na zona rural, inoculando até 250 trabalhadores por dia durante a jornada laboral, evitando perda da renda. O Leadership Council for Justice and Accountability prestou serviços bilíngues de cadastro, instalou postos móveis e aproveitou para distribuir alimentos neles, facilitando a vacinação de mais de 3.000 pessoas. O California Consortium for Urban Indian Health agiu em parceria com comunidades indígenas para aumentar a imunização com iniciativas que respeitavam a cultura nativa, divulgando informações sobre a segurança da vacina em reuniões e rodas de conversa e utilizando arte nativa nos materiais educacionais.
Antes dos anúncios à imprensa, eu repassava com o governador o impacto das parcerias com a Vaccine Equity Campaign e a Together Toward Health, para que ele pudesse falar sobre os 870
parceiros comunitários do estado e o extraordinário trabalho que faziam. Newsom usou essa informação para enfatizar a ênfase da Califórnia na saúde de sua população mais vulnerável. Reconhecer os interlocutores de confiança como parte de um esforço maior aumentou a força da parceria. Uma sondagem recente levantou que secretarias de saúde em todo o estado replicaram a estratégia do governo. A campanha deu tão certo – informando mais de 27 milhões de pessoas sobre a segurança das vacinas e ajudando 1,4 milhão de pessoas com o agendamento da vacinação – que, em 2022, o governo Newsom criou o Gabinete de Parcerias com a Comunidade e Comunicação Estratégica (OCPSC, na sigla em inglês) para apoio em outras questões prioritárias, como conservação de água e calor extremo. A rede de interlocutores de confiança do OCPSC hoje cobre 91% das zonas mais vulneráveis da Califórnia, prestando serviços em 34 idiomas e alcançando quase 18 milhões de pessoas.
Entidades filantrópicas e governo têm horizontes de tempo, metas e métodos diferentes
Tem certa flexibilidade de prazos
Tem compromissos de longo prazo
Tem prioridades limitadas
Pode ser seletiva em suas prioridades
Não cobre falta de verba de programas públicos
Acha o governo misterioso
Governo
Obedece a ciclos orçamentários anuais
Obedece a ciclos eleitorais
Tem centenas de responsabilidades
Não tem flexibilidade em suas prioridades
Busca verba para programas que a perderam
Acha as fundações misteriosas
Fonte: “Philanthropy and Government Working Together: The Role of Offices of Strategic Partnerships in Public Problem Solving”, 2012; conteúdo adaptado com permissão do Centro para Filantropia & Políticas Públicas da Universidade do Sul da Califórnia
velha abordagem de soluções isoladas. Olhando para as lições da pandemia, poderemos reverter essa tendência.
Como sabíamos que teríamos de trabalhar para vencer a desinformação sobre as vacinas, pensamos sobre a mensagem maior a ser transmitida desde o início da parceria. Nesse sentido, desde cedo, eu e colegas do gabinete do governador agimos com o The Center at Sierra Health Foundation e equipes de comunicação do PHI para criar mensagens culturalmente apropriadas e consistentes para comunicados à imprensa. O governador recebia atualizações contínuas sobre o número de organizações comunitárias envolvidas e o de pessoas alcançadas e sobre quais as estratégias originais de divulgação utilizadas. A equipe de redes sociais do governo postava histórias sobre estratégias das organizações parceiras para a conscientização. Estas, por sua vez, também divulgavam suas próprias iniciativas. Essa abordagem multipartite de comunicação foi fundamental para o sucesso da parceria e da campanha de imunização.
EMBORA PPPs PROMETAM ampliar resultados ao unir forças de vários setores, há vários obstáculos para que deem certo. Mesmo quem segue toda a receita à risca pode não atingir o nível de sucesso que tivemos na Califórnia. Apresento a seguir seis desafios.
Falta de urgência | A pandemia trouxe um sentido de urgência e uma onda de inovação inéditos. A ameaça a todos despertou um interesse comum. Diante da crise, o apoio vindo de empresas, organizações sem fins lucrativos e entidades filantrópicas foi extraordinário. Criar esse senso de urgência é um dos maiores desafios que o poder público enfrenta na hora de mobilizar o setor privado em torno de crises de longa data como pobreza, falta de moradia e mudanças climáticas. Hoje, passados mais de quatro anos do início da pandemia, muitos governos estão voltando à
Conflitos de interesses | Real ou imaginário, o conflito de interesses é um obstáculo. Para começar, quando o governo trabalha com entidades privadas, elas podem erroneamente supor que sua contribuição financeira lhes confere um acesso privilegiado a autoridades públicas e poder de barganha para interceder por suas áreas. Doações também abrem a possibilidade de conflitos de interesses, já que tanto doadores como o público podem supor que a contribuição financeira a uma parceria trará vantagens políticas. Para evitar isso, governos e doadores devem estabelecer limites claros entre parceria e ativismo.
Governos e parceiros privados devem se apoiar em suas equipes jurídicas para determinar os limites legais e operar com transparência. Na Califórnia, uma das medidas que tomamos para mitigar conflitos de interesses foi informar toda doação segundo a lei que rege pagamentos solicitados por funcionários públicos (chamada de “behested payments”), para que o público tivesse livre acesso a essa informação. Além disso, nossa equipe de comunicação foi capacitada para explicar a importância das parcerias para distribuir mais recursos aos contribuintes e à população carente.
Falta de capacidade interna | Um dos maiores obstáculos à participação do governo em PPPs é não saber como promover essa associação e a falta de capacidade para administrar os quatro elementos de uma parceria. No meu caso, trabalhei com afinco para estabelecer contato com órgãos estaduais, ONGs, fundações e empresas e, também, para identificar áreas de sinergia e oportunidades de pautas comuns. Atuei em estreita colaboração com uma equipe da Freedman, uma consultoria estratégica bancada por recursos filantrópicos. Antes de deixar o cargo, auxiliei a gestão Newsom a estabelecer contatos em mais de uma dezena de órgãos do estado para criar uma capacidade adicional em todo o governo. Interessados em lançar iniciativas de parceria estratégica, em qualquer esfera de governo, precisam criar essa capacidade e infraestrutura internas para garantir o sucesso.
Falta de capacidade externa | O governo também precisa que empresas, organizações sem fins lucrativos e fundações interessadas tenham capacidade para ajudar a criar essas PPPs. Uma de nossas principais parceiras era a Philanthropy California, rede que congrega 600 fundações beneficentes e ajuda a traçar estratégias, identificar e divulgar oportunidades de parceria e fazer a ponte entre seus membros e o governo estadual. Outra alternativa para o setor privado é contratar coordenadores para trabalhar com o governo no desenvolvimento de colaborações. Por último, nenhuma das parcerias que mencionei teria ocorrido sem o firme compromisso de entidades sem fins lucrativos e intermediários para ajudar a implementá-las.
Falta de motivação | Outro obstáculo é a falta de motivação. Logo que assumi meu cargo, tive de vender as colaborações a vários de meus colegas. Toda burocracia tem um profundo apego ao statu quo e, de modo geral, as pessoas não gostam de novidades no trabalho, pois já se sentem sobrecarregadas e não têm tempo, conhecimento ou tolerância a risco para coisas novas. Muitas autoridades no governo também temiam que ir atrás de recursos privados daria trabalho demais por um retorno mínimo, já que doações de fundações são uma gota no oceano se comparadas ao orçamento do estado da Califórnia, que chegava a US$ 300 bilhões ao ano. Possíveis parceiros privados também diziam que investir no relacionamento com um governo podia ser perda de tempo, pois teriam de recomeçar do zero após a eleição seguinte. Logo no início, tratei de identificar líderes dispostos a se aliar a nós, para ter vitórias que me ajudassem a vender a ideia de PPPs
que podia pôr fim a seu mandato, o que significava que tínhamos de ser muito cautelosos, politicamente falando. Com isso, certas parcerias mais controversas foram suspensas até a confirmação do governador no cargo. Em meio a esses desafios, trabalhei de perto com nosso time para evitar qualquer problema com grupos de interesse poderosos.
Por último, mudanças de governo podem tirar as PPPs da prioridade. Mesmo quando encontra instalada a infraestrutura para promovê-las, o novo governante pode eliminar escritórios de colaboração ou destituir os responsáveis pela área. Donald Trump, por exemplo, desmantelou o Gabinete de Inovação Social do governo Obama logo após sua posse, em 2017. Para que parcerias deem resultados a longo prazo, é preciso erguer salvaguardas institucionais a fim de preservar esses postos e estruturas durante transições de comando
APESAR DO IMENSO POTENCIAL, o modelo de governo por meio de parcerias ainda é incipiente, e cada setor precisa criar a estrutura para que ele dê resultados. Precisamos de comunidades de prática para que indivíduos encarregados do desenvolvimento de PPPs possam trocar conhecimentos e estabelecer contato com colegas em campo. Precisamos de mais desses profissionais nos planos federal, estadual e municipal para fortalecer essa capacidade no poder públi-
Apesar do imenso potencial, o modelo de governo por meio de parcerias ainda é incipiente, e cada setor precisa criar a estrutura para que ele dê resultados.
O impacto das PPPs vai muito além de seu resultado.
A inovação em grande escala é a sua real promessa
tanto dentro quanto fora do governo. Na ocasião em que encerrei meu mandato, três anos mais tarde, tínhamos trabalhado com mais de 1.800 parceiros privados e 27 departamentos e agências públicas. Todos tinham descoberto o valor de parcerias e criado as condições para dar continuidade a esse trabalho.
Fatores políticos | Tivemos de lidar com uma série de questões políticas difíceis de prever. Nossa estratégia de conscientização sobre a vacinação, que incluía a liberação de verbas a organizações comunitárias para agir como interlocutoras junto à população, foi alvo de protestos de sindicatos, pois empregava líderes de ONGs não sindicalizados. Eles se manifestaram também quanto ao programa Homekey, exigindo que se contratassem trabalhadores sindicalizados para a reforma de hotéis e motéis. Em 2021, o governador Newsom enfrentou uma eleição de recall
co. Também é necessário mapear recursos a fim de entender que vantagens e oportunidades cada instância pode trazer para parcerias. Essa arena também deve coordenar comunicações estratégicas para promover o valor de PPPs. Em todas essas frentes, o apoio filantrópico é bem-vindo.
Fico satisfeita de ver que as parcerias que iniciamos continuam crescendo e melhorando a vida de milhões de californianos. Com algumas em operação há alguns anos, vejo que o impacto vai muito além de seu resultado, pois sistemas e comunidades mudaram para melhor. A inovação em grande escala é a real promessa das PPPs. O
KATHLEEN KELLY JANUS é consultora sênior da Freedman Consulting e conferencista do programa de empreendedorismo social da Universidade Stanford.
A busca pela sustentabilidade não alterou de forma substancial os efeitos destrutivos da atividade empresarial. Somente adotando um novo modelo poderemos enfrentar as maiores crises globais da atualidade
TODOS ESTAMOS HABITUADOS A OUVIR FALAR DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. Por exemplo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas têm como objetivo combater 17 problemas mundiais, da erradicação da pobreza à garantia de acesso a água potável. Mas hoje a busca da sustentabilidade segue a filosofia do “não fazer o mal”, a qual se baseia em minimizar impactos negativos. No entanto, as mudanças climáticas, a desigualdade, a perda de biodiversidade e as crises de saúde pública mundiais desenfreadas indicam que precisamos de uma reforma completa de nossos sistemas. Se o equilíbrio entre fatores econômicos, sociais e ambientais era factível décadas atrás, hoje, para enfrentar esses desafios, a manutenção, ou mesmo a reparação, não será suficiente. Temos de mudar o foco, passando da sustentabilidade à regeneração
POR
CHRISTOPHER MARQUIS
Ilustrações de Caco Neves
Por que publicamos este texto
O artigo faz um importante exercício conceitual, ao defender uma economia regenerativa que substitua o modelo linear e exploratório dominante.
O autor ampara sua visão em exemplos de prática regenerativa em vários países, inclusive o Brasil, citando a Natura.

O conceito de regeneração tem suas raízes em práticas agrícolas, como o rejuvenescimento cíclico do solo e da vida das plantas. Aplicado aos negócios, ele implica muito mais do que a redução de danos. Seu objetivo é aperfeiçoar os sistemas, devolver o que foi retirado, repor os recursos naturais do planeta e tornar comunidades e a sociedade mais igualitárias e resilientes. Métodos empresariais regenerativos defendem transformações generalizadas em setores amplos, como agricultura, indústria e saúde. Vincent Stanley, diretor de filosofia de marca da Patagonia, descreve a mudança de mentalidade, da sustentabilidade à regeneração, como uma maneira de trazer novas formas de pensar para as empresas e de gerar valor para a sociedade e o meio ambiente. Desde o fim da década de 1990, a Patagonia adotou a missão de “produzir os melhores produtos, não causar mal desnecessário e usar sua atividade empresarial para inspirar e implementar soluções para a crise ambiental”. Mas a empresa concluiu, conta Stanley, que “falar em ‘não causar mal desnecessário’ era reconhecer que quase tudo o que fazemos para melhorar nossas práticas ainda é extrativo; essas práticas retiram da natureza coisas que não sabemos devolver e, na verdade, não criam nenhum bem positivo”. Essa é dinâmica fundamental para as práticas sustentáveis que se concentram na redução de danos, mas não na transformação dos sistemas para evitar que eles sejam causados.
O que uma empresa socialmente responsável deve fazer? O caso da Patagonia nos dá pistas: as empresas podem se distanciar do modelo linear do tipo “extrair, produzir, descartar” que define a atividade empresarial há pelo menos um século. Quando a Patagonia entrou no setor alimentício, em 2012, enxergou o poder da agricultura regenerativa, em que as práticas agrícolas são projetadas de modo a não esgotar a terra, como na lavoura agroquímica tradicional, e sim restaurar a saúde do solo, a biodiversidade e o ecossistema. A empresa adotou a regeneração como ideal geral. Desde 2017, a declaração de missão diz: “Estamos nos negócios para salvar nosso planeta natal”. As ideias regenerativas também foram adotadas pela divisão de vestuário da empresa, influenciando todas as etapas de sua cadeia de valor. Na produção, a Patagonia vem utilizando algodão e outros materiais cultivados segundo princípios regenerativos. Na comercialização, incentiva reduzir o consumo por meio da campanha “Don’t Buy this Jacket” (não compre esta jaqueta), que cria sistemas para incentivar uma maior vida útil dos produtos, por meio da reutilização e reparos.
O conceito de regeneração vai bem além dos sistemas naturais nos quais se origina. Aplicado aos negócios, tem como objetivo melhorar a saúde do ecossistema, promover a equidade social e gerar valor econômico com métodos inovadores. Ao definir os valores que devem priorizar, as empresas regenerativas contribuem positivamente para o meio ambiente, a sociedade e a economia, criando um modelo de crescimento circular e inclusivo que beneficia a todos os envolvidos, inclusive as gerações futuras. Mas esse método requer uma mudança fundamental de mentalidade e uma completa reformulação dos sistemas criados pelo homem, desde o consumo de energia até a forma como os bens são produzidos e oferecidos aos compradores. Hoje em dia, a maioria das empresas utiliza modelos de negócios que repassam
os custos de sua poluição e lixo à sociedade e ao meio ambiente; portanto interesses particulares e poderosos são um obstáculo. Além disso, conforme os conceitos regenerativos se tornam mais comuns, muitas empresas passam a adotá-los sem rigor. Isso, por sua vez, pode confundir o público em geral. Mas, analisando o cerne dos modelos de negócios dessas empresas e seu impacto e desenvolvendo novos mecanismos financeiros e contábeis e novas mentalidades, poderemos começar a entender como promover as mudanças necessárias.
Mudando o paradigma empresarial dominante
APRIMAZIA DOS ACIONISTAS, lógica dominante de nosso sistema econômico desde pelo menos a década de 1970, direciona as empresas para o lucro de curto prazo e a maximização do valor para os proprietários, muitas vezes em detrimento de preocupações socioambientais.
Nos últimos anos, esforços para mudar isso vêm ganhando força, principalmente no sentido de incluir nos objetivos de negócios o respeito aos interesses de outras partes interessadas (stakeholders), como funcionários, comunidades, fornecedores e o ambiente natural, partindo do pressuposto de que essa abordagem trará retornos financeiros no longo prazo.
A mais famosa expressão desse foco é a “Declaração Sobre o Propósito de uma Corporação” da organização Business Roundtable (BRT), que, em 2019, declarou que todas as empresas devem entregar valor não só aos seus acionistas, mas a todas os stakeholders.1
O anúncio, feito por uma associação de mais de 200 CEOs de elite dos Estados Unidos, gerou grande otimismo inicial. Depois, no entanto, ficou claro que a declaração era apenas uma campanha de relações públicas para fugir de uma maior supervisão governamental.2 Muitas das empresas cujos CEOs foram signatários do documento emitiram mais carbono e cometeram mais infrações ambientais do que firmas similares que não subscreveram a declaração.3 Além disso, as signatárias da BRT fizeram menos por seus acionistas do que empresas que não a assinaram e que entregaram retornos financeiros superiores.4
Ainda, durante o governo Trump, a BRT fez lobby por cortes de impostos de US$ 1,5 trilhão em benefício de suas empresas durante o governo Trump.5 A organização também fez campanha contra ações climáticas significativas, como as metas ambientais do governo Biden, e se opôs veementemente às propostas da Comissão de Valores Mobiliários americana de obrigar as corporações a medir e declarar as emissões de gases de efeito estufa em suas cadeias de suprimento.6 Em última instância, o apoio da BRT ao que ela chama de “capitalismo de partes interessadas” é só mais um exemplo de solução periférica proposta pelos que estão no poder para fortalecer sua própria posição e impedir reformas genuínas.
Um grande problema do foco nos stakeholders é que ele se baseia no conceito de “se dar bem fazendo o bem”. Como resumiu Alex Gorsky, CEO da Johnson & Johnson e presidente do comitê de governança corporativa da BRT, “o investimento em funcionários e comunidades é parte essencial da geração de valor
aos acionistas”.7 Mas esse tipo de abordagem muitas vezes depende de uma contabilidade seletiva que supervaloriza as vantagens para as partes interessadas e ignora as desvantagens geradas pela produção da empresa em questão. Tomemos como exemplo a PepsiCo, uma das signatárias da BRT. A empresa alardeia diversos programas voltados aos stakeholders, os chamados PepsiCo Positive, relacionados a seu compromisso com a sustentabilidade agrícola, com os trabalhadores em suas cadeias de fornecimento e com escolhas alimentares saudáveis.
Embora possam entregar o valor almejado, esses programas desviam o foco da natureza deletéria do modelo de negócios da empresa: a venda de bebidas açucaradas e de petiscos cujas fórmulas contêm ingredientes viciantes.8 Em última instância, a produção e a distribuição desses alimentos e bebidas contribuem para o aumento dos problemas de saúde no mundo todo, e o transporte de líquidos por longas distâncias em garrafas plásticas de uso único tem um impacto gigantesco sobre as emissões e sobre a proliferação de lixo plástico, além de causar grande esgotamento de recursos hídricos locais.
O plástico reflete o grau de hipocrisia da Pepsi. Se a empresa de fato se importasse com os stakeholders, reconheceria que menos de 10% desse material é reciclado e se empenharia mais
responsável promovendo a reciclagem, sem ter o ônus de repensar sua distribuição.
As externalidades sociais, como a pobreza e a desigualdade, são, em geral, menos óbvias – e cada vez mais prevalentes. Quem paga por esses problemas sociais? As empresas pagam salários baixos e, nos Estados Unidos, não arcam com assistência médica de seus funcionários, o que sobrecarrega os sistemas de saúde pública devido à maior incidência de doenças crônicas. Quem recebe salários miseráveis passa necessidade, e a desigualdade crescente atrapalha o crescimento econômico. Previsivelmente, a Pepsi também gasta milhões em campanhas de lobby e relações públicas para ocultar os impactos de seus produtos na saúde pública. O foco na regeneração mira as externalidades positivas. A adoção deste conceito pela Patagonia demonstra como uma empresa pode orientar seu modelo de negócios para gerar benefícios sociais com suas atividades. Mas, para que a sociedade aceite e ponha em prática esses sistemas, precisamos mudar a forma como seus impactos são avaliados. As empresas não podem receber crédito por boas ações seletivas, como propõem os defensores do capitalismo de partes interessadas. Temos de analisar o valor que elas entregam e o que extraem e responsabilizá-las pelos danos. Essa responsabilização pode passar por campanhas
Nossa desconexão com o mundo natural tem grandes consequências para nosso futuro.
As nações ricas subestimam nossa profunda dependência dos recursos da Terra, que vai da comida que comemos às roupas que vestimos
em evitar seu uso. Em vez disso, a empresa veicula peças publicitárias promovendo a reciclagem – e, portanto, transferindo a responsabilidade aos consumidores –, mesmo sendo uma das maiores produtoras de lixo plástico do mundo.9
Como esses impactos negativos podem ser combatidos e potencialmente revertidos? O primeiro passo é melhorar os questionamentos sobre o valor que as empresas geram e sobre seu impacto na sociedade e no meio ambiente. Em vez de perguntar como o foco nas partes interessadas pode gerar lucro, precisamos fazer perguntas mais básicas sobre os efeitos sociais dos modelos de negócios das empresas.
As externalidades de uma empresa são as decorrências de sua produção à sociedade e ao meio ambiente pelas quais a empresa não paga. Geralmente, usamos o termo para falar das negativas. As emissões de carbono são um exemplo clássico: seu custo ambiental não recai sobre o emissor, mas sobre a sociedade como um todo. Muitas outras formas visíveis de poluição são externalidades que permitem às empresas lucrarem mais, deixando os custos para a sociedade. Não surpreende que a Pepsi não se sinta motivada a reduzir o uso de plástico, uma vez que pode parecer
de conscientização, mudanças políticas, novas estratégias de investimento e, o que é importante, pela inovação no modelo de negócios, substituindo a visão linear da produção por uma visão circular capaz de gerar externalidades positivas.
Embora essa concepção soe pouco realista em nosso sistema atual, algumas empresas estão começando a analisar de forma mais sistêmica tanto os aspectos positivos quanto os negativos de seu modelo de negócios e sendo mais transparentes em relação a seus efeitos.
Recentemente, a multinacional brasileira de produtos de higiene pessoal e cosméticos Natura começou a avaliar o capital humano, social e natural – tanto positivo quanto negativo – de suas operações, por meio de uma demonstração de resultados integrada. Este relatório é uma prestação de contas abrangente sobre os tipos de valor criados (e extraídos) pelas operações da empresa. Com base em estimativas financeiras, o relatório reconhece os danos causados à terra, aos cursos d’água e às comunidades pela extração de ingredientes naturais e explica como a empresa lida com esses problemas na fonte por meio da restauração florestal, entre outras ações.
A Natura mensura o desenvolvimento econômico em termos de geração de emprego e de aprimoramento profissional, considerando o fato de que emprega mais de 2 milhões de representantes de vendas diretas. Ainda assim, também revela que seus consultores de nível inferior ganham salários insuficientes e quantifica o efeito desta externalidade negativa sobre a sociedade. Desse modo, a companhia busca reconhecer os efeitos de suas diferentes atividades principais. Esse comprometimento a ajuda não só a identificar áreas de melhoria, mas também a avaliar as contribuições gerais aos seus resultados financeiros, à sociedade e ao meio ambiente. Em 2022, a Natura concluiu que, de modo geral, para cada US$ 1 em faturamento, entregou US$ 2,70 em benefícios à sociedade. Ao prestar contas dos efeitos de seu modelo de negócios em todas as cadeias de valor envolvidas, ela exemplifica o tipo de análise que deveria ser exigida de todas as empresas para avaliar seu impacto sobre os recursos mundiais.
Um pilar de regeneração
NOSSA DESCONEXÃO DO MUNDO NATURAL tem grandes consequências para nosso futuro. As nações ricas subestimam nossa profunda dependência dos recursos da Terra, que vai da comida que comemos às roupas que vestimos. Embora a agricultura represente apenas uma pequena fração do PIB dos países desenvolvidos, seu impacto em nossas vidas é imenso, gerando mudanças climáticas e perda de biodiversidade. As grandes empresas do agronegócio plantam as mesmas lavouras ano após ano, utilizando práticas químicas que exacerbam os efeitos negativos sobre o planeta.
A agricultura regenerativa, por sua vez, procura restaurar ecossistemas e criar métodos que beneficiem o planeta. Seus
trevo protegem a terra contra a erosão e alimentam os micróbios. A matéria orgânica sobre o solo reduz a perda de nutrientes e a erosão, além de tornar as plantas mais resilientes contra pragas e doenças.10 Um estudo de 2023 concluiu que sistemas de plantio direto e outros em que a terra não é arada ou revolvida e nos quais há rotação de diferentes lavouras podem melhorar significativamente o teor de carbono no solo, contribuindo para melhorar sua saúde e reduzir o carbono na atmosfera.11 Um incremento de apenas 1% de matéria orgânica no solo permite que ele retenha 76 mil litros de água a mais, o que aumenta a resiliência da lavoura contra secas e chuvas intensas. Práticas regenerativas também reduzem a necessidade de irrigação, promovendo a independência hídrica.12
Além disso, a agricultura regenerativa promove a biodiversidade, fornecendo alimento e abrigo a diversas espécies de vida selvagem. E seus defensores costumam priorizar não só questões ambientais, mas também a equidade, envolvendo grupos como mulheres na agricultura e promovendo a renda justa e a melhoria das condições de trabalho.13
No entanto, este modelo ameaça as grandes empresas do agronegócio, porque desafia os métodos industrializados que lhes geram lucros bilionários. O modelo perturba a demanda por agroquímicos e organismos geneticamente modificados (OGMs) promovida por essas gigantes. Também mina o controle centralizado que exercem sobre patentes de sementes, fertilizantes e pesticidas, dando maior autonomia a pequenos produtores.
Em linhas gerais, é essencial redefinir as percepções do público em relação à agricultura regenerativa para promover um sistema alimentar mais equitativo, sustentável e que priorize o bem-estar de todos os envolvidos, de produtores a consumidores
defensores perguntam: “Será que o modo como praticávamos a agricultura no século passado é realmente o melhor? Ou será que podemos trazer de volta práticas tradicionais anteriores à agricultura industrial, inovar e descobrir outros métodos que também restauram ou mesmo criam novos sistemas?”.
As práticas agrícolas regenerativas vêm ganhando popularidade, em grande medida devido a seu potencial de descarbonizar e, ao mesmo tempo, restaurar ecossistemas. Por exemplo, quando os animais pastam, seus cascos afofam o solo e aceleram processos orgânicos, enquanto culturas de cobertura como a mostarda e o
Ainda assim, muitas empresas líderes de mercado vêm obtendo sucesso com os modelos regenerativos. A produtora global de café Illy, por exemplo, se concentra cada vez mais nessas questões. “Secas, enchentes, altas temperaturas – diferentes tipos de desastres climáticos vêm impactando a produção”, diz Andrea Illy, representante da terceira geração da marca. Formado em química, ele tirou um ano sabático em 2018 para estudar práticas de retenção de carbono no solo e voltou com um plano. “Se você tem um solo mais saudável, você provavelmente tem uma planta mais saudável, um alimento mais saudável e um consumidor mais saudável.”
O método da empresa para buscar essa saúde é composto por três fases. “Concluímos que, em primeiro lugar, é preciso melhorar as práticas agronômicas; em segundo, desenvolver novos cultivares e variedades mais resilientes aos efeitos das mudanças climáticas; e, em terceiro, migrar as plantações para latitudes ou altitudes maiores”, explica. A empresa está trabalhando com plantações-piloto sem carbono e vem disseminando práticas
agronômicas avançadas entre todos os seus produtores para ampliar a escala de sua cafeicultura sustentável.
Algumas práticas regenerativas – como deixar o solo inativo por determinados períodos – podem ser custosas no início, mas o sistema reduz gastos com insumos, portanto os produtores podem se livrar das dívidas e começar a lucrar. Robyn O’Brien, fundadora e ex-diretora administrativa da rePlant Capital, companhia de investimentos voltada à expansão de soluções climáticas agrícolas, recorda o caso de um fazendeiro que, com orientação de sua empresa, deixou de utilizar milho e soja geneticamente modificados. No primeiro ano, a medida gerou uma economia de US$ 500 mil. Esse tipo de economia é especialmente importante porque as questões políticas em torno dos OGMs, do agronegócio e dos pesticidas são muito delicadas. “Quando se fala em clima ou meio ambiente, a conversa pode cair na polarização. Mas, se só mostramos a matemática, nossa equipe consegue usar seu potencial pleno”, diz O’Brien. A regeneração pode, ainda, gerar novas receitas. Com sede em Vermont, a consultoria em sustentabilidade Native desenvolve projetos que geram compensações de carbono. Atualmente, a firma está criando mecanismos de mercado diferenciados para promover práticas regenerativas que reduzam os obstáculos ao financiamento. Um exemplo vem de seu projeto nas Grandes Planícies do Norte, em Montana, que utiliza manejo planejado para que o gado paste em áreas menores por períodos mais curtos, permitindo períodos maiores de descanso e crescimento para cada área. Depois de algumas temporadas, o carbono é devolvido ao solo e pode ser vendido na forma de compensações. Hoje, líderes empresariais adotam o mantra “A terra é o novo vento”, já que a regeneração do solo pode sequestrar níveis mais altos de CO2 da atmosfera e gera benefícios monetizáveis para fazendas, sítios e nossos sistemas alimentares. Sistemas arraigados, como a necessidade de financiamento antecipado, são obstáculos. Por isso projetos como os da rePlant e da Native são tão importantes. Os agricultores precisam de acesso ao capital para sair dessa armadilha. “Os custos ocorrem no início do ciclo, enquanto os benefícios em termos de carbono e saúde do solo ocorrem ao longo de décadas”, afirma Jennifer Cooper, vice-presidente da Native. “Não devemos esperar que fazendas e sítios pioneiros assumam sozinhos o ônus de descobrir quais práticas funcionam para eles.”
Necessidade de novos padrões e mentalidades
OUTRO OBSTÁCULO é a necessidade de padronização. Muitas grandes empresas alardeiam seu envolvimento com práticas regenerativas como forma de melhorar seu impacto ambiental. Além da possibilidade que esses projetos configurem greenwashing, sem valor regenerativo real, há de novo o problema da contabilidade seletiva.
A alegação da Pepsi de que está na vanguarda da agricultura regenerativa não é muito diferente das afirmações da gigante petroquímica BP de que está “além do petróleo”, quando as energias renováveis constituem apenas uma pequena fração de seus negócios.
Na União Europeia, afirmações ambientais não comprovadas, como “impacto climático neutro”, estão em via de serem proibidas, o que implicará atenção redobrada e necessária. Da mesma
forma, a terminologia regenerativa precisa ser esclarecida. Mas as empresas não precisam esperar que os governos ajam. Algumas entidades do setor privado vêm trabalhando conjuntamente para tentar definir o termo.
Conhecida por sua alta qualidade, seus sabonetes multiúso e sua missão de responsabilidade social e sustentabilidade ambiental, a Dr. Bronner’s buscou, a partir de 2020, certificar seus ingredientes com selos de práticas orgânicas regenerativas e de comércio justo, fomentando relacionamentos internacionais com agricultores do Sri Lanka, Gana e Índia. Nesse processo, a empresa passou a conhecer os agricultores e seus produtos “da raiz ao fruto”, como conta Michael Bronner, presidente da companhia.
Com o tempo, a Dr. Bronner’s percebeu que, apesar das certificações, não estava oferecendo contrapartidas suficientes à terra e aos produtores. Em 2017, a empresa, a Patagonia, o Instituto Rodale e algumas outras firmas e agricultores fundaram a Aliança Orgânica Regenerativa (ROA, na sigla em inglês) para criar certificações padrão de bem-estar animal, equidade social e sustentabilidade orgânica. O resultado foi a Certificação Orgânica Regenerativa (ROC). “É como a máxima de O Senhor dos Anéis: ‘Um anel para todos governar’.”, diz Bronner.
Outros programas de certificação e verificação foram desenvolvidos nessa área; cada um tem seu foco e seu grau de rigor. Por exemplo, a União pelo BioComércio Ético (UEBT) desenvolveu uma certificação voltada ao tratamento da mão de obra e à biodiversidade dos ingredientes retirados da natureza. Esses programas têm peso no atual mercado de agricultura regenerativa. Eles aumentam a confiança e o empoderamento do público, que faz escolhas mais bem informadas por marcas que consegue identificar como realmente regenerativas (o que pode justificar preços maiores), incentivando a transparência para combater o greenwashing. Além disso, certificações são ferramentas educativas, influenciando as decisões de varejistas em favor de produtos ambientalmente e socialmente responsáveis e, em última instância, ajudando-os a honrar compromissos relativos a suas cadeias de fornecimento. Mas nem todas as certificações têm os mesmos requisitos. Elizabeth Whitlow, diretora-executiva da ROA, me falou da importância de exigir padrões orgânicos em qualquer sistema regenerativo, porque práticas regenerativas que usam pesticidas e outros químicos ainda podem degradar o solo, reduzir a biodiversidade e perturbar ciclos de nutrientes naturais.
Também se requer uma mudança na mentalidade – das empresas e dos consumidores. Por exemplo, a vinícola Tablas Creek , em Paso Robles, na Califórnia, está trabalhando em parceria com a ROA para promover a compreensão e a aceitação desta certificação por parte dos consumidores. Jordan Lonborg, da Tablas Creek, afirma que, quando as pessoas pensam em vinícolas, só veem as videiras. Mas, diz ele, “para começar a plantar regenerativamente, é preciso dar o restart e reavaliar seu conceito do que é um vinhedo saudável”. Isso exige sair da monocultura e “fazer o possível para criar um ecossistema biodiverso”, com árvores frutíferas, hortas ou plantas perenes, explica ele.
Como a agricultura regenerativa limita o uso de produtos externos, a Tablas Creek produz seu próprio fertilizante. Agricultura regenerativa, diz Lonborg, “não é nada de novo, mas, sim, uma forma de plantar que as pessoas utilizam há centenas de anos”.
Ele reconhece que são como “uma manchinha na unha da agricultura como um todo”. Mas, ainda assim, acredita que a visibilidade da empresa possa ter um enorme impacto. “Produtores de milho não aparecem na mídia. Poderosos não visitam milharais, mas todo tipo de gente vem para a Califórnia beber vinho.”
Em linhas gerais, é essencial redefinir as percepções do público em relação à agricultura regenerativa para promover um sistema alimentar mais equitativo, sustentável e que priorize o bem-estar de todos os envolvidos, de produtores a consumidores.
Repensando sistemas de produção
EMBORA SEJAM BASEADAS na natureza, as ideias regenerativas têm implicações importantes sobre a manufatura e a produção. O movimento em direção às etapas finais das cadeias de valor enfatiza dois aspectos importantes: em primeiro lugar, alcançar operações de impacto positivo real pelo uso de energias renováveis e produzir mais energia do que se consome; e, em segundo, adotar métodos circulares para minimizar o descarte e ampliar reúso, reparo e reciclagem. Em vez do
Thibaud Hug de Larauze, CEO e cofundador da Back Market, plataforma mundial de venda de produtos eletrônicos recondicionados, de iPhones a notebooks e eletrodomésticos. Ele procura fazer com que esses produtos se tornem a primeira escolha dos consumidores de tecnologia. A empresa passou de 1,5 milhão de consumidores em julho de 2019 para 6 milhões em 2022. Hoje, está avaliada em mais de US$ 5,7 bilhões, o que faz dela a startup mais valiosa da França.
Até mesmo a Ikea está trabalhando para tornar-se uma empresa totalmente circular. A primeira medida nesse sentido foi a adoção de um programa que permite que clientes devolvam produtos e recebam créditos de entre 30% e 50% do preço original. Os itens devolvidos são disponibilizados para revenda.
Essas iniciativas inspiram esperança, mas devemos nos manter céticos: empresas podem dizer que adotam modelos circulares sem, de fato, trabalhar por eles. Na indústria da moda, muitas empresas afirmam ter circularidade – a qual é em muitos casos, impossível, porque os materiais se degradam com a reciclagem. Além disso, estudos já mostraram que o comportamento dos consumidores talvez ainda não permita essas práticas, o que é uma das
O movimento em direção a um modelo de negócios regenerativo vai muito além da transformação produtiva.
Ele exige repensar os fundamentos da atividade empresarial e os modelos lineares que colocam o lucro dos acionistas em primeiro lugar e que têm dominado o setor há décadas
modelo linear do tipo “extrair, usar, descartar”, o foco circular cria um sistema de circuito fechado que regenera recursos e reduz o impacto ambiental
Muitos esforços de sustentabilidade fracassam devido a um efeito rebote, no qual a redução das emissões é anulada por um aumento no consumo, gerando maiores emissões totais. É um problema que muitas empresas escondem, comunicando seu progresso de forma seletiva.
O setor energético tem se dirigido para modelos regenerativos, e fontes como a eólica e a solar vêm se tornando mais disponíveis. Elas podem não só gerar energia renovável, mas também contribuir para a regeneração dos ecossistemas. É verdade que não são perfeitas; a construção da infraestrutura necessária para seu funcionamento também pode prejudicar os ecossistemas. Por isso, métodos de produção devem ter como prioridade evitar as emissões e o descarte em primeiro lugar.
Porém, uma vez estabelecidos, os métodos circulares devem ser adotados como ponto de partida para um sistema mais regenerativo. Isso pode significar o emprego de técnicas de reciclagem inovadoras que convertem lixo em novos materiais ou em energia, ou de estratégias de reúso que dão vida nova aos produtos. O impacto ambiental do lixo pode se tornar uma solução para outros processos.
razões pelas quais é essencial mudar a mentalidade das pessoas.
Empresas que fabricam e vendem produtos físicos são as que mais ativamente estão buscando sistemas de produção regenerativos. Mas, ao avaliarmos o impacto dos modelos de negócios de forma mais abrangente, também temos de nos concentrar em superar as externalidades nos setores de serviços.
Tomemos como exemplo o setor bancário. Se realizada corretamente, a alocação de capital pode desencadear efeitos em cadeia multiplicativos característicos dos sistemas regenerativos. Contudo, com suas práticas atuais, o setor é um dos mais óbvios facilitadores da contabilidade seletiva. Por exemplo, um relatório divulgado em março de 2022 pela InfluenceMap mostrou que os depósitos em dinheiro recebidos por grandes empresas de serviços financeiros estão subsidiando empréstimos para beneficiar a infraestrutura de combustíveis fósseis, o que prejudica tanto as empresas depositantes quanto os objetivos climáticos dos próprios bancos.
Apesar de seu crescimento notável, as práticas regenerativas ainda não ganharam a atenção pública; devido a hábitos arraigados, o consumidor em geral não pensa nos efeitos em cadeia dos modelos de negócios das empresas. Mas essa tendência pode mudar com facilidade. Em 2019, apenas 3% das compras na Back Market foram realizadas por razões ecológicas; hoje, o número já ultrapassa 25%, segundo Hug de Larauze. À medida que continua-
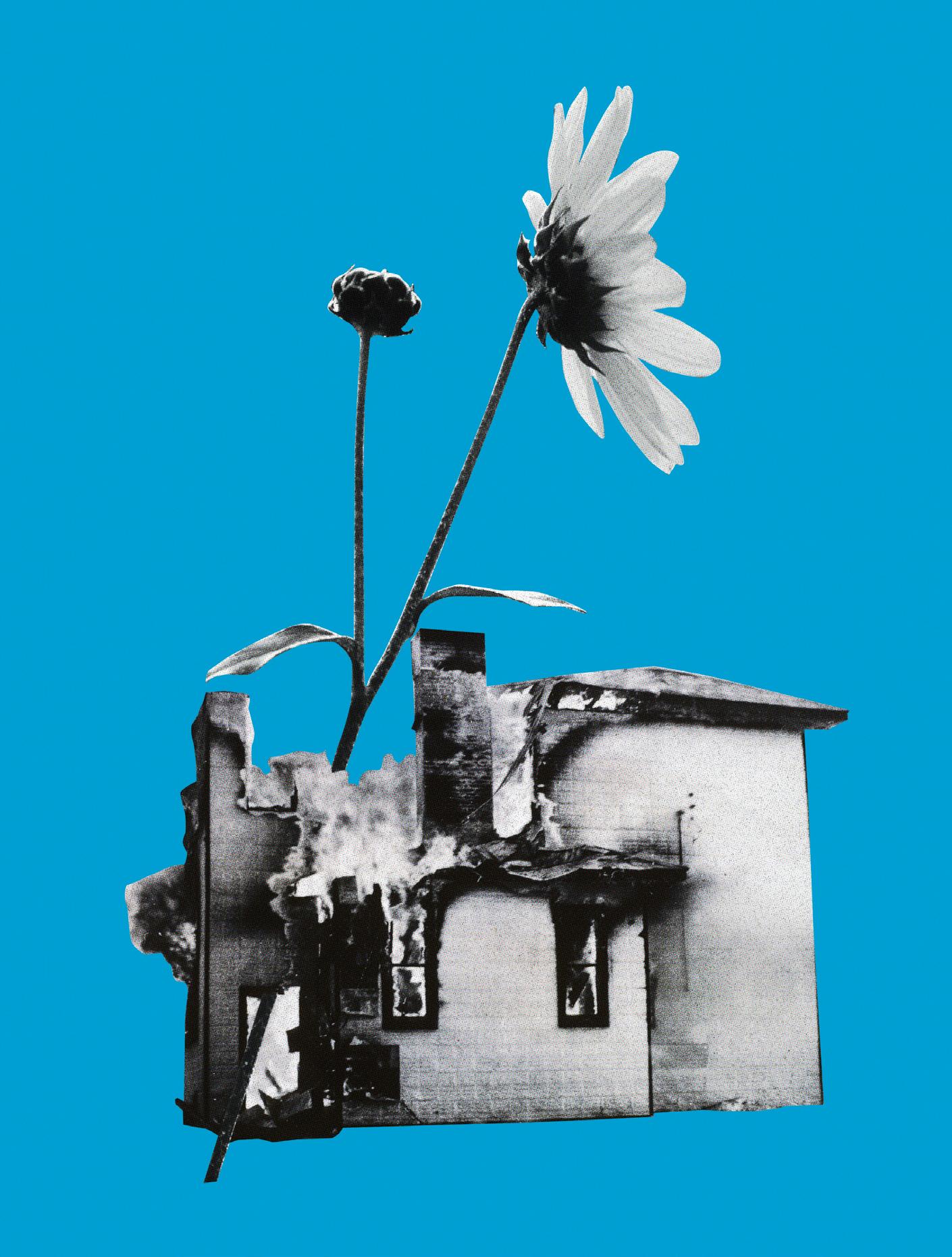
mos a avaliar modelos de negócios com base em seus efeitos reais sobre o valor social, também temos de pensar em formas de combater a natureza consumista de nosso sistema econômico atual.
Repensando modelos de negócios
OMOVIMENTO EM DIREÇÃO a um modelo de negócios regenerativo vai muito além da transformação produtiva. Na verdade, ele exige repensar os fundamentos da atividade empresarial e os modelos lineares que colocam o lucro dos acionistas em primeiro lugar e que têm dominado o setor há décadas. Mais uma vez, precisamos superar a comunicação seletiva de boas ações isoladas e pensar as atividades empresariais de forma holística. Isso implica estender o conceito de regeneração a questões como demanda de consumo e vida útil
dos produtos, o que por sua vez exige uma reavaliação fundamental de metas e objetivos corporativos, a exemplo do que vêm fazendo empresas líderes como Patagonia, Illycaffè e Natura.
A Interface, empresa global de fabricação de pisos, é outro exemplo. Em lugar de vender pisos, como faz a maioria das empresas de carpete, ela foi pioneira em disponibilizar o aluguel do revestimento. A instalação, manutenção e remoção dos pisos e carpetes da Interface são cobradas num pacote mensal. Quando o consumidor não quer ou não precisa mais do produto, a empresa o retira e recicla ou revende. O sistema de circuito fechado da Interface ajuda a aumentar a vida útil dos recursos e reduz a produção de lixo. A empresa já comercializa carpetes carbono negativos.
Essa forma de trabalhar também abre novos mercados para produtos usados e serviços de reparos. A Richard Henkel, fabricante alemã de móveis tubulares de aço, abriu mão da obsolescência programada, priorizando o valor de longo prazo para investidores e consumidores. Uma parte substancial de seus negócios se baseia nos reparos, reformas e reciclagem.
Modelos de negócios desse tipo também incentivam investidores, parceiros, funcionários e consumidores a adotar o pensamento regenerativo, incentivando, assim, a inovação e as práticas sustentáveis em toda a cadeia de valor.
Trata-se de uma visão muito diferente da adotada por empresas tradicionais como a Apple. Ainda que o lançamento do iPhone 14 em 2022 tenha trazido avanços técnicos mínimos em relação a seu antecessor, a Apple manteve seu cronograma de introdução de novos produtos, contribuindo para o aumento da poluição e do lixo. Apesar de seus louváveis programas de reciclagem, como o Apple Trade In e o Daisy, a empresa abre mão de uma escolha ambientalmente superior porque prioriza a entrega de valor a seus acionistas. Em vez de incentivar os consumidores a comprar e, em seguida, reciclar, que tal reduzir a produção e o consumo desnecessários? A Apple se concentra seletivamente nos efeitos colaterais positivos, ignorando os aspectos negativos subjacentes ao seu modelo de negócios.
Por sua vez, a Fairphone, concorrente da Apple com sede na Holanda, desenvolveu um modelo de negócios alternativo para lidar com os desafios sociais e ambientais da indústria eletrônica. Fundada em 2013 como uma empresa social que prioriza uma pegada ambiental reduzida e condições justas de trabalho, a Fairphone incentiva os consumidores a consertarem seus celulares, em vez de substituí-los, com o intuito de minimizar o uso de minerais de conflito e promover a sustentabilidade na indústria eletrônica.
A filosofia da Fairphone pode parecer inviável, dadas as demandas e expectativas enfrentadas pelas empresas. É claro que a Apple precisa continuar produzindo novos produtos. De que
outra forma ela poderia crescer? Mas, para que haja progresso no combate das crises existenciais que enfrentamos na atualidade, devemos analisar melhor nossas expectativas mais arraigadas e questionar nossos pressupostos.
Nossas mentalidades são moldadas pelos modelos existentes de capitalismo e de sucesso corporativo há muito formalizados e reforçados por sistemas institucionais, como bolsas de valores e exigências de relatórios trimestrais que registrem aumento no faturamento. Contudo, se repensarmos a produção e redesenharmos produtos e serviços como analisamos aqui, podemos seguir em direção a um modelo mais regenerativo e circular.
A mudança está chegando
ATÉ AGORA, NOS CONCENTRAMOS principalmente na inovação empresarial e corporativa, porque a reforma de modelos de negócios é fundamental para que a sociedade adote um sistema mais regenerativo. Mas a reforma nos negócios requer um trabalho rigoroso e interconectado entre todos os principais setores da sociedade, bem como medidas mais enérgicas para difundir e institucionalizar mais amplamente essas ideias.
Em um movimento fundamental, o âmbito político também tem dado exemplos precursores dessas mudanças. Por exemplo, recentemente, a União Europeia tem demonstrado mais rigor e um escopo mais amplo em relação à regulação ambiental, com maior ênfase na produção de relatórios e prestação de contas em sustentabilidade, com um grau nunca visto de supervisão das cadeias de valores empresariais. Os Padrões de Relatórios de Sustentabilidade da UE (ESRS) contêm definições mais claras do que constitui a atividade ambientalmente sustentável e de ações pontuais para sanar problemas ambientais como o desmatamento e a perda de biodiversidade. Empresas de maior porte que atuam na União Europeia serão obrigadas a divulgar as emissões de sua cadeia de valor (Escopo 3) já quanto às atividades de 2024.
Exigências similares deverão entrar em vigor na Califórnia até 2027. À medida que aumentam essas e outras pressões regulatórias (por exemplo, contra greenwashing), mais as empresas se sentem motivadas a adotar práticas regenerativas como estratégia essencial para reduzir as pegadas ambientais de toda a sua cadeia de valor e atender a exigências de conformidade em evolução.
Na verdade, alguns investidores já começaram a se adaptar a uma nova era em que as empresas são responsabilizadas por suas contribuições aos danos ambientais, principalmente os proprietários universais – aqueles cujos portfólios são altamente diversificados em classes de ativos como, por exemplo, ações, títulos, imóveis e outros instrumentos financeiros.
Com efeito, o retorno obtido por esses investidores reflete a saúde de toda a economia. Eles não podem ignorar riscos sistêmicos, como as mudanças climáticas, a perda de biodiversidade e a desigualdade, porque são inevitavelmente afetados por eles. Se uma das empresas de seus portfólios for leviana quanto à redução de poluição ou se cortar benefícios de funcionários para aumentar seus retornos, é provável que as consequências afetem outros investimentos, impactando negativamente seus retornos totais.
Em lugar de simplesmente tentar escolher as empresas vence-
doras e evitar as perdedoras, os proprietários universais reconhecem que a saúde de seus portfólios depende da saúde e estabilidade do sistema econômico como um todo. Consequentemente, eles pressionam as empresas, pedindo contribuições para melhorar o lado positivo do balanço social e ambiental, em vez de aumentar seus ganhos explorando os pontos negativos.
Ir além da sustentabilidade para concretizar essas aspirações pela regeneração não será fácil e não dependerá de uma solução única. Precisamos de ações multifacetadas em diversos âmbitos. Sabemos, hoje, que os modelos de negócios regenerativos são viáveis em muitos setores; mas, para criar um sistema econômico de fato regenerativo, teremos de repensar os modelos de negócios e a organização social de um modo geral. A tarefa pode parecer assustadora, mas se não dermos novo rumo aos nossos sistemas, exigindo que as empresas se responsabilizem por todo o escopo de seus negócios, o futuro será sombrio. Por outro lado, optando pela regeneração, um caminho para um futuro mais sustentável, resiliente e equitativo poderá surgir. O
MARQUIS é Sinyi Professor de administração chinesa da Judge Business School da Universidade de Cambridge e autor de The Profiteers: How Business Privatizes Profits and Socializes Costs, entre outros livros.
1 Organização Business Roundtable, “Statement on the Purpose of a Corporation”, 19.08.2019.
2 Geoff Colvin, “America’s Top CEOs Didn’t Live Up to Their Promises in Business Roundtable Letter, Researchers Find”, Fortune, 05.08.2021.
3 Aneesh Raghunandan e Shivaram Rajgopal, “Do Socially Responsible Firms Walk the Talk?”, Social Science Research Network, 01.04.2021.
4 Jerry Useem, “Beware of Corporate Promises”, The Atlantic, 06.08.2020.
5 Peter S. Goodman e Patricia Cohen, “It Started as a Tax Cut. Now It Could Change American Life”, The New York Times, 29 de novembro de 2017; Adam Lowenstein, “US Corporations Push to Roll Back Trump-Era Tax Policies They Once Endorsed”, The Guardian, 12.01.2024.
6 Adam Lowenstein, “How a Top US Business Lobby Promised Climate Action –but Worked to Block Efforts”, The Guardian, 19.08.2022.
7 Alex Gorsky, “Why the Business Roundtable Redefined the Purpose of a Corporation (and Why It Matters)” , LinkedIn, 20.08.2019.
8 Ian Lecklitner, “What’s in This? Mountain Dew”, MEL Magazine (acessado em 19.09.2019); Michael Moss, “The Extraordinary Science of Addictive Junk Food”, The New York Times Magazine, 20.02.2013.
9 Relatório #BreakFreeFromPlastic, Branded: Five Years of Holding Corporate Plastic Producer Accountable, nov.2022.
10 Daphne Miller, “The Surprising Healing Qualities ... of Dirt”, Our World, Universidade das Nações Unidas, 22.02.2014.
11 Aaron M. Prairie, Alison E. King e M. Francesca Cotrufo, “Restoring Particulate and Mineral-Associated Organic Carbon through Regenerative Agriculture”, Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 120, no. 21, 2023.
12 Tara Lohan, “California Drought: Six Years in, How Will the State Keep Saving Water?”, KQED, 12 de dezembro de 2016.
13 Amy Bracchio e Neelam Chhiber, “How the Regenerative Economy Can Advance Social Equity and Gender Equality”, Fórum Econômico Mundial, 05.01.2023.
14 Christopher Marquis, “From Soap to Chocolate: Dr. Bronner’s Launches into Food as Extension of Supply Chain’s Positive Impact”, Forbes, 02.07.2021.
15 Ken Pucker, “Um círculo que não se fecha facilmente”, Stanford Social Innovation Review Brasil, n. 5, set.2023.
16 James Kennelly, “Richard Henkel GmbH: Growing Profits, Not Sales”, Ontário: Ivey Publishing, 2022.
17 Ellen Quigley, “Universal Ownership in the Anthropocene”, Social Science Research Network, 13.05.2019.
A falta de recursos não deveria impedir jovens de servir a suas comunidades
POR YASMINE MAHDAVI
No inverno passado, todo domingo cedo, meu filho adolescente se encontrava com o mentor de sua equipe de resgate a esquiadores e aprendia a preparar a montanha para os visitantes do dia. Ao longo do dia, resgatava crianças que haviam se perdido de seus pais e esquiadores que haviam se ferido e precisavam de atendimento médico de emergência. Ao cair da tarde, vasculhava a montanha para ver se todos tinham ido embora em segurança. Foram mais de 120 horas como jovem voluntário socorrista de esquiadores durante a temporada, ao fim da qual perguntei a ele se queria continuar no ano que vem. “Quero ajudar as pessoas”, ele respondeu.
Assegurar que todos, especialmente os jovens, prestem serviços voluntários é o meu trabalho. Sou diretora de análise e impacto da DoSomething, polo digital de ativismo e serviços voltados aos jovens. Desde 1993, ajudamos milhões de pessoas a descobrir seu entusiasmo cívico e os equipamos para atuar nas questões que mais os toquem. O voluntariado permite que os jovens adquiram habilidades e características que não se conquistam em sala de aula, além da confiança e da capacidade necessárias para servir a suas comunidades. No entanto, a desigualdade dificulta o acesso de muitos jovens ao voluntariado, que carecem de oportunidade e incentivo para servir. Na DoSomething, estamos determinados a construir pontes para o

capital social, econômico e humano, de modo que realizem seu potencial como agentes de mudança.
FALTA DE CAPITAL
Participantes do trabalho voluntário relatam aumento nos níveis de felicidade e satisfação e redução nos de estresse e ansiedade. A percepção de que o voluntariado serve ao bem maior da sociedade e amplia o sentido da vida também tem correlação com aumento da autoestima, do autocontrole e da confiança. Essas descobertas foram reforçadas por uma pesquisa realizada pela DoSomething, na qual os participantes disseram que as oportunidades de voluntariado resultaram num sentimento de orgulho, mais autoconsciência e maior conexão com suas comunidades e pares.
O voluntariado também é vital à economia. Em abril de 2023, a organização Independent Sector estimou o valor mais
recente da hora de voluntariado em US$ 31,80, superior ao valor em 2018, que era de US$ 24,69 – o que equivale a US$ 197,5 bilhões ao ano.
Os jovens veem o voluntariado com muito entusiasmo. Segundo nossa mais recente pesquisa Pulse Check, realizada no primeiro semestre deste ano, 81% dos membros menores de idade da DoSomething afirmaram ter interesse pelo serviço comunitário e voluntariado. Embora meninas e mulheres geralmente sejam maioria nas atividades voluntárias, nossa pesquisa mostrou que 62% dos meninos e homens se disseram interessados nelas – entre mulheres e meninas, a cota é de 78%.
Entretanto, muitos jovens são excluídos do voluntariado por falta de capital social, humano ou econômico. Alguns não têm condições financeiras, já que não podem deixar de lado o trabalho remunerado ou obrigações como cuidar de membros da família. Essas impossibilidades tornam o caminho do voluntariado proibitivo.
Além disso, as oportunidades de voluntariado são muito mais divulgadas entre os que têm redes de contato mais amplas, com mais acesso a tecnologia, participantes de organizações profissionais e com acesso a mentores e instrutores. Por isso, é menos provável que jovens com capital social limitado tenham conexões a instituições que facilitem ou proporcionem participação na vida cívica.
A pedagogia também condiciona o acesso dos jovens ao voluntariado. Embora a maioria dos estados americanos exija que os estudantes concluam cursos cívicos para se formar, a participação em projetos de
aprendizagem por serviço comunitário só é obrigatória em 11 deles – e só em um estado, Maryland, ela é pré-requisito para a formatura. Mesmo lá, a profundidade das experiências varia. Segundo relatório de 2018 do Brown Center sobre a Educação Americana, 70% dos alunos do último ano disseram nunca ter redigido uma carta para emitir uma opinião ou resolver um problema, embora essas sejam habilidades essenciais à cidadania civicamente engajada.
Além desses obstáculos, nós, do setor social, podemos melhorar a oferta de experiências de voluntariado mais ricas. Em vez de incentivar os jovens a agir por meio do aprendizado, da ação e da conexão com suas comunidades, optamos por promover experiências transacionais. Tratamos o voluntariado como um meio de alcançar nossas comunidades por meio de atividades esporádicas e desconexas, com meia hora de duração. Embora as organizações sem fins lucrativos em geral acompanhem o volume de voluntários, em termos de número e de horas, muitas vezes não nos indagamos mais
Tomando como inspiração o compromisso em servir do Dr. Martin Luther King Jr., nossas iniciativas são guiadas pelos princípios a seguir
Uso de linguagem inclusiva. | Para motivar os jovens ao voluntariado, usamos uma linguagem que valorize seus pontos fortes. Por exemplo, nossas diretrizes de marca evitam termos como “empoderar”, reconhecendo que os jovens têm poder; nossa função é guiá-los a exercitar esse poder de modo eficaz.
Aprimoramento da educação cívica. | Para ampliar a formação de líderes com pensamento cívico, é preciso recorrer a soluções nas salas de aula. Como parte de nosso trabalho com equidade e justiça, a DoSomething mobiliza os jovens a apoiar a lei chamada Civics Secures Democracy Act, que incrementa o acesso ao ensino de história e à educação cívica por meio de financiamento a estados e distritos. Além disso, em nosso trabalho na Coalizão Cívica de Nova York, colaboramos com organizações da cidade para promover a adoção do Selo
Por exemplo, um de nossos primeiros bolsistas, Arnold Ludd, usou a bolsa para planejar a expansão de sua iniciativa Jiggabite Gloves Up, Guns Down. Implantado em diversas escolas de Nova York, o programa oferece uma solução liderada por jovens para combater a violência por armas de fogo. A iniciativa oferece treinamento em boxe e exercícios físicos, além de um espaço seguro para que os jovens debatam questões de segurança da comunidade e aprendam novas habilidades com especialistas, como mediação de conflitos e outras alternativas à violência por armas de fogo.
Criar colaboração para construir comunidade. | Nossos programas visam integrar as experiências dos jovens, para que as empreguem como ferramentas valiosas de contribuição e liderança. No ano passado, lançamos o coletivo E.M.B.E.R., um grupo de membros da DoSomething reunidos numa comunidade de prática. Jovens com interesses comuns se reúnem sob um modelo de aprendizado coletivo para desenvolver projetos próprios volta-
Embora a maioria dos estados americanos exija que os estudantes concluam cursos cívicos para se formar, a participação em projetos de aprendizagem por serviço comunitário só é obrigatória em 11 deles
profundamente sobre o que o voluntariado nos ensina sobre nós e nossas comunidades. Assim, perdemos oportunidades de usá-lo para que os jovens se comprometam a ser membros, parceiros, agentes de mudança e líderes de nossas comunidades.
POSSIBILITANDO O ENGAJAMENTO COMUNITÁRIO
Na DoSomething , temos clareza de nossa parcela de responsabilidade pelos obstáculos estruturais que vedam o voluntariado a muitos. Cumprindo nosso plano estratégico, estamos enfrentando esse desafio comum por meio de um compromisso renovado com a diversidade, a igualdade, a inclusão e o pertencimento, bem como pela construção de pontes para o capital social, econômico e humano, a fim de que mais jovens tenham acesso a essas oportunidades e possam atingir seu potencial enquanto agentes da mudança.
de Capacitação Cívica, um reconhecimento formal de que o aluno alcançou a proficiência nesse tema.
Fornecimento de recursos a líderes já existentes. | Ao dotar líderes já ativos de capital financeiro e social, ajudamos a reforçar a ideia de que eles podem usar seu tempo e conhecimento para fazer parte da solução e criar um efeito em cascata, convocando seus pares e comunidades. Em 2023, a DoSomething lançou seu programa de bolsas Civic Fellows para combater os obstáculos das limitações de capital social e econômico que impedem a participação de jovens no serviço. Em recompensa por suas contribuições, jovens líderes receberam treinamentos, mentorias e recursos mensais que lhes permitiram ampliar a escala de suas intervenções para solucionar problemas que afetam suas comunidades e atrair voluntários e participantes.
dos à saúde mental e para trabalhar pelos objetivos compartilhados. O coletivo está desenvolvendo uma série de iniciativas, desde a ampliação do acesso a livros sobre ecoansiedade até saraus para discutir preocupações do grupo. O que é mais importante, nossos membros estão aprendendo com seus pares e integrando os pontos de vista deles aos seus projetos.
O baixo investimento na educação dos jovens em nosso país contribuiu para a desconexão social e a redução da ascensão socioeconômica, da inovação e do progresso. Cabe a todos nós – o setor de impacto social, os empregadores da iniciativa privada, aqueles que ocupam cargos eletivos e os adultos das comunidades –convocar os jovens e garantir que tenham voz e vez. Isso pode e vai mudar vidas. O
YASMINE MAHDAVI é diretora de análise e impacto da DoSomething.
O futuro das finanças pode ser digital, mas não devemos subestimar a resiliência e a liberdade que a moeda em espécie traz
POR SEEMA PREM
Com imenso apoio de governos e da indústria tecnológica, os pagamentos digitais estão se tornando regra. A pandemia deu um impulso inesperado, com pessoas no mundo todo migrando para pagamentos online e por aproximação. Há um clamor crescente por uma economia 100% sem dinheiro vivo, e países como Noruega, Suécia e Holanda estão bem avançados nesse sentido. Embora eu seja cofundadora e CEO de uma fintech de impacto social que cria infraestrutura de pagamentos digitais, acredito que o fim do dinheiro em espécie traz riscos inerentes – e não só para aqueles que estão nas margens da sociedade digital. É fato que pagamentos digitais têm vantagens tanto para consumidores como para empresas. Para os consumidores, eles eliminam a necessidade de carregar dinheiro físico ou cartões. As transações geralmente são rápidas e seguras, graças a medidas avançadas de segurança, como encriptação, biometria e autenticação em duas etapas e, em muitos casos, são acompanhadas de recompensas oferecidas por bancos, cartões de crédito e instituições de pagamento parceiras.
Para as empresas, a conveniência e a rapidez se traduzem em maiores vendas e fluxo de caixa. Com os pagamentos digitais, os usuários interagem com seus bancos por meio do celular pelo menos uma vez por semana. Essa conexão faz dos aplicativos de pagamento excelentes plataformas para vender produtos e serviços adicionais. Os pagamentos digitais também deixam um rastro de informações valiosas para gerar conhecimento sobre o consumidor.
Por outro lado, porém, o dinheiro físico diminui a dependência de um método único, como a internet ou as plataformas digitais. O dinheiro é “gratuito”, no sentido de que pode ser trocado diversas vezes sem a necessidade de infraestruturas digitais complexas.

A redundância que ele representa ajuda o sistema a se adaptar e a se recuperar de desacertos, além de reduzir o risco de falhas catastróficas resultantes de erros pontuais. Se usado em paralelo aos métodos digitais, o dinheiro garante uma infraestrutura financeira mais resiliente.
Dadas essas e outras vantagens, não creio que rumar para uma economia sem dinheiro em espécie seja uma decisão acertada, ao menos num futuro próximo.
Para entender melhor a marginalização financeira que uma economia sem dinheiro físico pode trazer, conto duas histórias (nomes e dados pessoais foram alterados para proteger a identidade dos personagens). Bandana Kumari (33), Gurugram, Índia | Todos os dias, Bandana Kumari caminha três quilômetros da sua residência numa favela superpopulosa até o arranha-céu onde trabalha como doméstica em Gurugram. Kumari, que abandonou os estudos no terceiro ano, nunca usou um smartphone, muito menos uma carteira digital. Ela nunca havia trabalhado fora até seu marido, que é operário, perder o emprego, na pandemia.
Um ano depois disso, ele morreu de cirrose hepática. A família tinha gastado todas
as suas economias na tentativa desesperada de salvar sua vida. Viúva, com três filhos de 16, 14 e 12 anos, Kumari tem de arcar com as dívidas feitas para o tratamento do marido. Famílias como a sua, sem convênio médico, precisam fazer empréstimos para pagar despesas de internação hospitalar.
Para piorar a situação, Kumari perdeu INR 3.000 (US$ 36) – o equivalente a dez dias de seu salário. Não em um furto ou golpe, mas para a carteira digital de seu marido. Quando o celular dele quebrou, o custo do conserto, US$ 50, era alto demais para ela. Quando ficou viúva, não teve condições de continuar recarregando o chip, que foi desativado. Esse é um prejuízo significativo para uma família em dificuldades financeiras. Kumari só sabia reconhecer o valor do dinheiro pela cor das cédulas. Nunca tinha usado um celular para nada além de telefonar para a família. Em seu mundo, onde é difícil garantir três refeições por dia, possuir um celular e conseguir recarregá-lo já são luxos – que dirá fazer pagamentos digitais. Emil Nystrom (41), Estocolmo, Suécia | Emil Nystrom é um empreendedor sueco completamente habituado ao mundo digital. Em julho de 2023, foi convidado a falar numa conceituada conferência sobre design em Singapura. Embora estivesse se recuperando de uma lesão no joelho, não hesitou. Com menos de dois dias para planejar sua viagem, não teve tempo de converter dinheiro. Acostumado a viver sem dinheiro em espécie na Suécia e sabendo que viajaria de uma economia desenvolvida a outra, Nystrom não se preocupou muito.
Chegando a Singapura, ele se deparou pela primeira vez com a exclusão que pode haver em um mundo sem dinheiro físico, quando tentou comprar um cartão EZ-Link para utilizar o MRT, sistema de transporte público local. Seu cartão foi recusado pelo sistema. Como era quase meia-noite, teve de tomar um táxi até seu hotel, o que lhe custou SGD 40 (US$ 30).
Para piorar, ele descobriu que não havia caixa eletrônico na estação do MRT nem na loja de conveniência mais perto do hotel. O caixa eletrônico mais próximo ficava a 21 minutos a pé. A caminhada poderia ter sido agradável, se não fosse pelo seu joelho. Ele trocou apressadamente um punhado de euros que tinha por dólares de Singapura no hotel, tendo que arcar com uma taxa de câmbio significativa. Além disso, os terminais de recarga de seu cartão EZ que aceitavam pagamento em dinheiro eram poucos e distantes. Ele tinha de andar bas-
deixando centenas de indivíduos e de pequenos negócios desassistidos.
Embora os bancos aleguem que isso se deveu a suspeitas de atividade fraudulenta detectada por algoritmos, em muitos casos, os afetados nem sabem o que houve. “Não há humanização nenhuma, só números numa tela”, disse ao Times um programador que trabalhava com esses algoritmos. “Eles não dizem ‘essa é uma mãe solteira que trabalha como babá’, dizem ‘ei, segundo tais quesitos, ela é suspeita – então cai fora’.”
direção que cada economia seguirá e, para isso, precisam encontrar o equilíbrio. A digitalização deve andar de mãos dadas com a alfabetização, tanto a básica quanto a financeira. A ponte entre os familiarizados com o meio físico e o meio digital precisa ser construída por meio de sistemas financeiros humanizados e empáticos.
Atualmente, na Índia, circula uma quantia equivalente a US$ 397 bilhões. Algumas das nações mais economicamente avançadas, como Estados Unidos, Singapura, Japão e Alemanha ainda usam dinheiro físico
Quando as economias buscam transações 100% digitais, tiram o direito e a liberdade das pessoas de controlar e usar seu dinheiro de forma independente
tante no interior da estação para conseguir fazer a recarga usando moeda em espécie.
Kumari e Nystrom representam estratos populacionais diversos com diferentes necessidades e graus de experiência e familiaridade com sistemas financeiros. Suas histórias, contudo, demonstram problemas de uma sociedade sem dinheiro físico. Os governos precisam usar de empatia ao fazer essa mudança, reconhecendo que ainda existem os pobres, os desbancarizados, os idosos e os analfabetos, bem como possíveis emergências. Para pessoas como Nystrom, além de preocupações, o ônus inclui a acessibilidade e a conveniência. Para outras, como Kumari, trata-se de familiaridade e custo. O dinheiro, para ela, é gratuito. O digital, não. Toda e qualquer transação requer conectividade e acesso a dados. Também demanda intimidade com a tecnologia e consciência financeira que nem todos têm ou podem ter. De forma mais geral, o digital aumenta a dependência em relação a instituições, como bancos, fintechs e operadoras de telefonia. Quando as economias buscam transações 100% digitais, tiram o direito e a liberdade das pessoas de controlar e usar seu dinheiro de forma independente. Em novembro de 2023, o New York Times informou que estava se tornando mais comum que bancos encerrassem contas sem aviso,
Além disso, as redes digitais muitas vezes ficam inacessíveis em tempos de crise. Na Guerra da Ucrânia, muitos países impuseram sanções à Rússia, e Visa, Mastercard e outras empresas suspenderam suas operações no país. Assim, cidadãos russos não podiam mais fazer pagamentos digitais em nível global, o que gerou pânico e uma corrida aos caixas para sacar dinheiro.
No início de 2023, a Nigéria tentou combater a inflação e as falsificações substituindo cédulas antigas para promover os pagamentos digitais. Mas os bancos simplesmente não tinham infraestrutura para atender à demanda por cédulas novas, e o caos se instaurou, com filas enormes e pessoas comuns impossibilitadas de comprar alimentos ou ir trabalhar.
Emergências climáticas são outro exemplo. Durante as enchentes de 2019, por exemplo, Kerala, na Índia, ficou sem eletricidade por vários dias, e a maioria da população perdeu acesso a caixas eletrônicos. Como os celulares não funcionavam, as pessoas usaram suas reservas em espécie para comprar suprimentos essenciais. O problema se repetiu quando o ciclone Michaung atingiu Chennai, na Índia, em dezembro passado, afetando os pagamentos digitais e impossibilitando a compra de alimentos.
Diante dessas limitações, devemos buscar uma economia com menos dinheiro vivo, e não uma economia sem dinheiro vivo. Cabe aos bancos centrais definir a
em muitos âmbitos. As transações em espécie vêm diminuindo no mundo todo, e as digitais, crescendo – e essa é a direção certa a tomar. Assim como os aviões substituíram opções mais lentas e ineficientes e o Zoom substituiu reuniões presenciais que exigiam viagens, transações digitais se tornaram uma alternativa moderna e eficiente, trazendo conveniência, segurança e rapidez.
No entanto, o verdadeiro progresso não está em superar métodos tradicionais tidos como antiquados, mas em reconhecer a necessidade de coexistência entre os diversos modos. Fatores como a ascensão de governos autoritários pelo mundo, desequilíbrios climáticos, crescente desigualdade e demanda cada vez maior por privacidade e cibersegurança também requerem ponderamento antes de rumar para um mundo digital.
Em última instância, o dinheiro físico não deve ser erradicado por completo. Ele dá liquidez, controle, resiliência, privacidade e proteção contra regimes autoritários. São vantagens importantes demais para serem ignoradas. Governos e bancos centrais precisam defender a redução do dinheiro vivo, em vez de buscar uma sociedade sem ele. Caso contrário, ameaçam colocar pessoas vulneráveis em circunstâncias desesperadoras. O
SEEMA PREM é CEO e cofundadora da FIA Global, uma fintech de impacto social que atende a populações rurais de baixa renda no Sul Asiático.
Em certos contextos, os métodos atuais para alcançar a sustentabilidade agrícola podem ser contraproducentes à preservação ambiental
POR EVELYN R. NIMMO, ANDRÉ E. B. LACERDA, LEANDRO BONFIM E JOEL BOTHELLO
Práticas agrícolas voltadas às commodities são responsáveis por pelo menos três quartos do desmatamento no mundo. Aproximadamente um terço dessas perdas ocorreu apenas no Brasil. Diversos ecossistemas no país – entre eles, as florestas pluviais amazônicas – sofreram reduções drásticas em cobertura florestal e biodiversidade. O uso generalizado e não controlado de agroquímicos e pesticidas também causou contaminação substancial do solo, da água e do ar. As consequências socioeconômicas incluem a redução das populações rurais e a migração de comunidades indígenas.
O problema é tanto epistemológico quanto econômico. O conhecimento tradicional e indígena das práticas agrícolas no Brasil está sendo rapidamente substituído por práticas de monocultura promovidas por métodos científicos que descontextualizam a agricultura, enfatizam experimentos controlados e otimizam a produção em torno de uma única variável de interesse – em geral, o rendimento das lavouras. Esses métodos não levam em consideração o valor de sistemas altamente complexos, específicos aos seus contextos, difíceis de mensurar e profundamente interligados a arranjos sociais e culturais.
A organização sem fins lucrativos brasileira CEDErva (Centro de Desenvolvimento e Educação dos Sistemas Tradicionais de Erva-Mate) está enfrentando esse problema de frente. A CEDErva está na vanguarda dos esforços de combate à comoditização da erva-mate, árvore nativa das florestas subtropicais sul-americanas. Paralelamente, a organização promove práticas tradicionais e indígenas de cultivo da erva-mate na sombra.

Com sede em Curitiba, a CEDErva lidera o Observatório dos Sistemas Tradicionais e Agroecológicos de Erva-Mate, uma rede integrada de apoio composta por formuladores de políticas públicas, representantes da indústria, organizações da sociedade civil e cientistas. O observatório trabalha para promover a preservação e a regeneração de conhecimentos ancestrais que possibilitem a pequenos produtores agrícolas e comunidades indígenas e tradicionais proteger e regenerar ecossistemas florestais nativos por meio da produção de erva-mate e, ao mesmo tempo, obter sua subsistência.
PRODUÇÃO TRADICIONAL
DA ERVA-MATE
A erva-mate ocupa posição de destaque nos mitos de origem e cosmologias dos povos indígenas locais guarani e kaingang há séculos, se não milênios. O cultivo da erva-mate à sombra também é comum entre outros grupos na região Sul do Brasil, incluindo grupos tradicionais, como quilombolas, descendentes de escravos foragidos, e os faxinalenses, descendentes de colonos do Leste Europeu que utilizam a terra de forma comunitária como pastagem para animais. No Sul, grupos indígenas, pequenos produtores e comunidades tradicionais desenvolveram, ao longo de décadas
de experimentação, práticas de cultivo agroflorestal sustentável relacionadas à erva-mate. Este sistema emprega uma grande diversidade de espécies vegetais e animais nativas e introduzidas, proporcionando manejo diversificado da terra nas fazendas. O uso continuado dessas práticas desempenhou uma função importante na manutenção das florestas nativas da região. No entanto, um estudo econômico recente sobre o valor da cadeia de produção da erva-mate sugere que a produtividade das práticas tradicionais não é suficiente para que elas sejam economicamente viáveis para pequenos agricultores. O estudo defende uma volta à monocultura, com base em estudos científicos estreitos que demonstram que a produção de erva-mate em campo aberto é maior devido à maior exposição à luz. O que se omite, porém, é o custo dessa maior produtividade, não apenas em termos de insumos, mas também das externalidades relacionadas à deterioração do ambiente sociocultural e ecológico no qual se cultiva a erva-mate. A forma como ocorre esse debate, portanto, ofusca outros aspectos importantes do cultivo tradicional da erva-mate à sombra. Ela tem benefícios pouco valorizados: requer pouco investimento de insumos e mão de obra. O ciclo natural da floresta gera nutrientes permitindo que as árvores e o ecossistema prosperem, apesar das colheitas regulares.
O método da monocultura defendido por interesses científicos e corporativos, por sua vez, exige a remoção da sombra oferecida pelo dossel da floresta. Embora possa aumentar o rendimento, essa remoção rompe o delicado equilíbrio do ecossistema: as pragas e doenças da erva-mate, normalmente controladas por predadores naturais e por fontes de alimento alternativas, proliferam na lavoura em campo aberto, demandando a utilização de pesticidas e outros produtos químicos caros e nocivos. O incentivo às práticas de mono-
cultura também não é ideal para pequenas propriedades que abrigam importantes reservas florestais.
Quais soluções alternativas podem promover a permanência de práticas tradicionais de cultivo tão essenciais à manutenção da biodiversidade e da segurança alimentar? Para responder a esta pergunta, a CEDErva tem implementado uma série de medidas para empoderar comunidades tradicionais e pequenos agricultores, de modo a proteger os sistemas socioecológicos e o patrimônio cultural do cultivo tradicional da erva-mate, que faz parte da identidade dessas comunidades tradicionais.
Desenvolvimento de identidades e conhecimentos comunitários | Os sistemas agroflorestais tradicionais são encontrados em comunidades indígenas, comunidades tradicionais de colonos e pequenas propriedades
tradicionais e pequenos fazendeiros de forma desproporcional. Para lidar com esses desafios, muitos fazendeiros adotaram práticas regenerativas – baseadas em técnicas agroflorestais – que permitem restaurar a cobertura florestal e recuperar nascentes naturais em suas propriedades. A CEDErva e suas parceiras vêm estudando, monitorando e facilitando a implementação desses sistemas.
Conscientização e reconhecimento de sistemas de conhecimento tradicionais locais |
A CEDErva também lidera um esforço pelo reconhecimento dos sistemas tradicionais de cultivo da erva-mate por meio do programa Sistemas Importantes do Patrimônio Agrícola Mundial (Sipam), da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO, na sigla em inglês). Este programa traz reconhecimento a sistemas agrícolas desenvolvidos ao longo de diversas gerações e intimamente ligados aos ecossistemas e culturas singu-
sobrevivência desses produtores. Por isso, a CEDErva e suas parceiras do Observatório vêm investindo na promoção de compensações justas aos agricultores pela ampla gama de serviços que prestam ao ecossistema de sua região, como água potável e ar limpo, biodiversidade, solos saudáveis e hábitats para polinizadores naturais, entre muitos outros. Dessa forma, estão envolvendo diversos atores no debate em nível regional e nacional.
Embora tenham chamado a atenção de grandes corporações que procuram neutralizar suas pegadas de carbono, os mercados de carbono e outros mecanismos muitas vezes deixam para trás os pequenos produtores e comunidades tradicionais, pois estes têm acesso limitado a mecanismos de compensação. É importante defender essa comunidade de prática, garantindo que seus membros sejam recompensados por seu papel na proteção e na regeneração dos ecossistemas onde a erva-mate cresce naturalmente.
A manutenção de práticas que existem há diversas gerações é essencial para a gestão dos sistemas socioecológicos locais
onde se pratica a agricultura familiar; a produção da erva-mate, baseada na utilização de conhecimento e de práticas locais e agroecológicas e na preservação das florestas nativas, é o elo que une essas comunidades.
A CEDErva percebeu que, embora esses grupos tenham histórias diferentes, seu conhecimento e práticas comuns e sua ligação com a terra têm raízes semelhantes e um claro impacto sobre a paisagem. Além disso, as identidades, histórias e memórias dos produtores estão intrinsecamente relacionadas às práticas de cultivo de ambientes florestais diversos, de colheita das árvores e de consumo da erva-mate com amigos e familiares. Promoção de soluções locais e inovadoras de preservação e regeneração florestal |
A CEDErva também apoia modelos locais de manejo florestal e agrícola comprovadamente mais sustentáveis que a monocultura. Nos últimos anos, a região onde atua a CEDErva tem sido afetada por algumas das piores secas já registradas, entremeadas com períodos de chuva excessiva e prejudicial, o que tem impactado comunidades
lares dos locais onde são encontrados. O programa reúne elementos de patrimônio cultural, organização social, preservação da agrobiodiversidade, segurança alimentar e soberania, preservação de paisagens e conhecimento tradicional, proporcionando, assim, uma visão sistêmica e holística da importância dessas práticas. O reconhecimento desse sistema socioecológico trará legitimidade aos sistemas tradicionais de produção da erva-mate, o que, por sua vez, gera a oportunidade de aumento do valor de mercado da erva-mate produzida nas propriedades reconhecidas, em comparação com a de sistemas não tradicionais. Busca de compensações alternativas para as comunidades | Por fim, a CEDErva procura aumentar a vitalidade econômica das práticas agrícolas tradicionais. Embora as previsões baseadas em métricas financeiras e científicas convencionais sejam certamente insuficientes para atender às necessidades das comunidades produtoras de erva-mate tradicionais, ignorar por completo a viabilidade econômica constituiria uma ameaça à
O que se conclui é que as técnicas convencionais de agricultura sustentável não funcionam mais. A ênfase no agronegócio e nas soluções sustentáveis de cunho econômico talvez prejudique mais do que ajude as comunidades que habitam e retiram seu sustento de sistemas tradicionais.
A manutenção de práticas que existem há diversas gerações é essencial para a gestão dos sistemas socioecológicos locais. Ao expandir o escopo do valor para incluir elementos socioculturais e ambientais de sistemas de conhecimento tradicionais, a CEDErva procura demonstrar que há um futuro viável para esses sistemas. O
EVELYN R. NIMMO é presidente da CEDErva. ANDRÉ E. B. LACERDA é engenheiro florestal e pesquisador da Embrapa Florestas.
LEANDRO BONFIM é professor assistente de gestão e organizações da Faculdade de Administração Kenneth W. Freeman da Universidade Bucknell. JOEL BOTHELLO é professor adjunto de administração da Faculdade de Administração John Molson da Universidade Concordia.
POR DANIELA BLEI
É historiadora, escritora e editora de livros acadêmicos. Sua produção pode ser encontrada em daniela-blei.com/writing. Ela tuíta esporadicamente em @tothelastpage
Em 2008, Cass Sunstein, professora da Faculdade de Direito de Harvard, e Richard Thaler, economista da Universidade de Chicago, introduziram o conceito de nudge (“empurrãozinho”): uma intervenção pouco intrusiva utilizada por agentes públicos e formuladores de políticas para incentivar as pessoas a tomar decisões melhores. Com base em pesquisas de cientistas comportamentais e economistas, Sunstein e Thaler afirmaram que se pode incentivar as pessoas a tomar certo rumo sem tirar sua liberdade de escolha.
Suas ideias inspiraram a organização britânica Behavioural Insights Team, que conta com aproximadamente 200 Nudge Units (Unidades de Empurrão), ou afiliadas de pesquisa, no mundo todo. Essas equipes trabalham com agências governamentais, conduzindo ensaios controlados randomizados (ECRs) para saber se um empurrãozinho de fato irá, por exemplo,

aumentar as taxas de vacinação ou incentivar os motoristas a pagar multas. Um novo artigo faz uma pergunta importante: o que acontece com as descobertas que são feitas após as Unidades de Empurrão testarem intervenções? A coleta de evidências garante melhores resultados, ou há gargalos para aplicar os achados?
Os pesquisadores – Stefano DellaVigna, professor de economia da Universidade da Califórnia em Berkeley, Woojin Kim, doutoranda em economia na mesma instituição, e Elizabeth Linos, professora adjunta de políticas públicas e gestão e cientista comporta-
mental da Harvard Kennedy School – descobriram que muitos empurrões que poderiam ter impacto nunca foram implementados e quiseram saber por quê. Concluíram que a inércia organizacional pesa: é mais provável que agências governamentais incorporem resultados dos ECRs caso eles se apliquem a atividades que elas já realizam.
Cinco anos após sua fundação, a Behavioural Insights Team abriu um escritório na América do Norte para ajudar agências locais e federais a melhorar seus serviços. “Essas Unidades de Empurrão conduziam experimentos com agências
governamentais para descobrir o que seria eficaz em seus contextos; o que elas faziam com isso? Essa era a pergunta por trás do artigo”, diz Kim. Os pesquisadores contataram 30 cidades norte-americanas que foram alvo de 73 ECRs em 67 departamentos municipais. Kim conta que, ao abordarem os funcionários municipais, perguntavam: “Vocês se lembram do experimento que realizaram para testar se o empurrão funcionaria na sua cidade? O que vocês estão fazendo com o resultado?”. Apenas 27% das cidades adotaram o empurrão, e os pesquisadores se perguntaram por quê.
Após entrevistarem funcionários públicos em diversas cidades, desenvolveram três modelos para explicar a adoção ou não dos empurrões. O primeiro investigava a permanência no cargo dos funcionários que conduziram experimentos com Unidades de Empurrão. O segundo analisava dados da infraestrutura, como número de funcionários e recursos. O terceiro e último observava o modo como os funcionários transmitiam o empurrão – se usando modelos novos ou uma forma de comunicação preexistente. Os pesquisadores concluíram que o último era o que melhor previa a adoção. “Nenhuma predição era conclusiva, a não ser a preexistência ou não das formas de transmissão do empurrão”, diz Kim. Quando a Behavioural Insights Team ajudou a injetar
a ciência comportamental em uma comunicação que os habitantes já recebiam, a taxa de adoção superou 50%. Nos casos em que a cidade optou por uma nova comunicação, ficou em cerca de 10%. Em outras palavras, a inclusão de uma intervenção num processo já existente aumentou muito a probabilidade de adoção.
Muitas vezes, quando um experimento produz evidências promissoras, os pesquisadores pressupõem que a adoção será orgânica. No entanto, esse estudo mostra que a incorporação das evidências à formulação de políticas e à prática requer reflexão deliberada sobre rotinas e estruturas. Nos últimos anos, mais governos investiram tempo e dinheiro para avaliar quais intervenções funcionam. Hoje, investigar como a adoção acontecerá parece ser tão importante quanto produzir evidências.
Os pesquisadores “nos lembram de que agências governamentais locais são organizações”, diz Jonas Hjort, professor de economia da University College London. “Com isso, desnudam barreiras à adoção da evidência e questões importantes a investigar.” O “Bottlenecks for Evidence Adoption”, por Stefano DellaVigna, Woojin Kim e Elizabeth Linos, Journal of Political Economy, vol. 132, n. 8, Aug. 2024.
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
POR DANIELA BLEI
Aideia da renda básica universal (RBU) é prover pagamentos regulares em dinheiro a todos os membros de uma comuni-
dade, sem exigências ou contrapartidas. Nos Estados Unidos, Andrew Yang, candidato nas primárias presidenciais de 2020, fez da RBU a marca registrada de sua campanha. Houve uma enxurrada de comentários e análises, e os eleitores se indagavam se a RBU poderia reduzir a desigualdade econômica e trazer segurança a milhões de americanos que vivem em condições precárias e sob a ameaça da automação. Entre os economistas que estudavam a RBU naquela época estavam Diego Daruich, professor de finanças e economia empresarial da Faculdade de Administração Marshall da Universidade do Sul da Califórnia, e uma de suas ex-orientadoras, Raquel Fernández, professora de economia da Universidade de Nova York. Havia evidências crescentes dos efeitos benéficos das transferências de dinheiro em curto prazo e em pequena escala, mas os pesquisadores perceberam que, para estudar a RBU em maior escala, com pagamentos mais duradouros ou mesmo perenes, seria necessário um modelo novo e dinâmico. De que forma os economistas poderiam identificar os efeitos macroeconômicos caso o governo americano distribuísse perpetuamente dinheiro a todos os seus cidadãos?
Os pesquisadores construíram um modelo de ciclo de vida levando em conta indivíduos de diferentes idades, os investimentos dos pais na educação de seus filhos, o quanto as pessoas trabalham e quanto economizam, a arrecadação de impostos, padrões de consumo e os efeitos da interação entre todos esses fatores. Após diversas simulações considerando uma RBU financiada por impos-
tos sobre renda laboral que fornecesse US$ 8.000 por ano a cada adulto, com base em dados que acompanham os domicílios americanos ao longo do tempo e incorporando muitos dos custos e benefícios associados à RBU, os pesquisadores concluíram que a política reduziria o bem-estar social geral.
“Nossas conclusões foram opostas às demais e nos perguntamos por quê”, diz Daruich. “Começamos a alterar nosso modelo, ativando algumas funções e desativando outras. Percebemos que, quando a RBU é introduzida, é preciso aumentar os impostos para financiá-la; quando os impostos são altos, cai o retorno sobre os investimentos, levando a menor acúmulo de capital. Além disso, como os indivíduos sabem que sempre receberão dinheiro do governo, não precisam fazer reservas para eventualidades. Essas duas forças fazem com que haja menos capital na economia, o que, por sua vez, leva a uma redução nos salários. Se não há empresas e não há empregos, os salários caem.”
Menos capital também significa menor arrecadação de impostos de empresas, gerando a necessidade de aumentar outros tributos para cobrir os gastos com a RBU. “Todos esses efeitos dinâmicos e de longo prazo demoram para aparecer”, diz Daruich. Aumentos bruscos nos impostos, já foi demonstrado, influenciam as decisões dos pais em relação a investimentos em educação, por exemplo. Quando diminuem esses gastos, o resultado é uma menor disponibilidade de mão de obra qualificada na economia, o que implica perdas em bem-estar social. Desde 2020, comentaristas
nos Estados Unidos expressaram preocupação de que a RBU levaria a população a trabalhar menos. Para entender as mudanças comportamentais acarretadas pelas transferências de dinheiro, os pesquisadores analisaram estudos empíricos que acompanham trabalho e hábitos financeiros entre ganhadores da loteria. Uma análise, por exemplo, registrou uma queda na renda laboral média anual nos cinco anos após o recebimento do prêmio. Os pesquisadores aplicaram seu modelo de ciclo de vida para testar respostas do mercado de trabalho aos prêmios e descobriram que ganhos financeiros inesperados levam a uma diminuição da renda laboral e a uma queda na disponibilidade geral de mão de obra.
Os achados, porém, não invalidam impostos progressivos, frisa Daruich. Mas há evidências de que a RBU não é a melhor maneira para reduzir a desigualdade. Transferências para financiar educação de alta qualidade na primeira infância, por exemplo, ou mesmo a distribuição de dinheiro de forma mais direcionada têm probabilidade de eficácia muito mais alta que a RBU.
“Esse excelente artigo analisa os efeitos dos programas de RBU concentrando-se nos efeitos dinâmicos da formação de habilidades entre diferentes gerações”, diz Gustavo Ventura, professor de economia da Universidade Estadual do Arizona. “Ele complementa trabalhos recentes que demonstram que, em cenários macroeconômicos, de modo geral, a RBU é uma má ideia.” O
“Universal Basic Income: A Dynamic Assessment”, por Dario Daruich e Raquel Fernández, American Economic Review, vol. 114, no. 1, 2024.


Supercomunicadores, de Charles Duhigg, é bom guia para interações pessoais, mas evita se aprofundar em questões éticas
POR AYESHA ANNA NINAN
Em Supercomunicadores: Como desbloquear a linguagem secreta da comunicação, o jornalista Charles Duhigg, ganhador do Pulitzer, oferece aos leitores estratégias de comunicação simples para melhorar sua conexão com amigos, família, colegas de trabalho e o entorno geral. Dominar ferramentas comuns de conservação, argumenta o autor, pode tornar qualquer pessoa um “supercomunicador”: alguém capaz de “entrar em sincronia com praticamente qualquer um”, que deixa os demais à vontade, trocando experiências sem monopolizar o discurso e refletindo sobre assuntos espinhosos com sensibilidade.
Duhigg é famoso pelo best-seller O poder do hábito, de 2012, que fala de como podemos mudar nossos hábitos entendendo como eles se formam, e de Mais rápido e melhor [ambos lançados no Brasil pela Objetiva, que edita o título atual], de 2016, que disseca a ciência da produtividade, oferecendo ao leitor ferramentas de otimizar seu rendimento. Neste trabalho mais recente, Duhigg usa uma metodologia semelhante, de combinar pesquisa com estudos de caso saborosos para construir um guia, em parte autoajuda, em parte manual “faça você mesmo”, para melhorar a comunicação.
Supercomunicadores tem seu ponto de partida no reconhecimento recente, por parte do autor, de que não conseguia se conectar de forma autêntica com seus empregados, amigos e família. Com essa percepção de
suas falhas, ele decidiu melhorar seu entendimento da comunicação interpessoal a fim de “entender como as pessoas à nossa volta enxergam o mundo e, em troca, ajudá-las a compreender nossas perspectivas”, escreve. Talvez seja por isso que sua prescrição para uma boa conexão soe óbvia: escute atentamente, faça perguntas argutas que revelem os valores de seu interlocutor e se envolva de modo aberto e autêntico.
“Temos de compreender genuinamente como a pessoa se sente, o que ela quer e quem ela é. E então, para combinar, precisamos por nossa vez saber como compartilhar o que pensamos.” O esquema de Duhigg para melhorar a comunicação é mais funcional no nível interpessoal e como ponto de partida para organizações que queiram diálogos mais abertos. Pode-se dizer que ele é menos bem-sucedido quando se apresenta como solução para mitigar a polarização política na sociedade.
Supercomunicadores, como ele observa, não são indivíduos carismáticos, nem costumam ser os que se apontam como líderes de um grupo. Na verdade, são aqueles que sabem se misturar, que fazem mais perguntas que a média e os que não hesitam admitir que não sabem tudo. Em sua análise de como eles agem, Duhigg se apoia em pesquisas de

Supercomunicadores
neurociência que mostram como diferentes tipos de discussão acendem diferentes partes do cérebro: questões práticas usam a rede de controle frontal do cérebro; conversas sobre si (identidade e relacionamentos) ativam o modo padrão do cérebro; e debates emocionais ativam a amígdala, o núcleo accumbens e o hipocampo. Ele classifica essas conversas em três mindsets: as conversas de tomada de decisão (“Do que realmente se trata?”), as sociais (“Quem somos?”) e as emocionais (“Como nos sentimos?”).
Embora sejam diferentes, esses três tipos de conversa não são independentes. Ao contrário, diz Duhigg, “passamos por essas três questões à medida que um diálogo se desenrola”. Por exemplo, afirma, pode começar “com um amigo pedindo ajuda para raciocinar sobre um problema (‘Do que realmente se trata?’) e depois confidenciando que se sente estressado (‘Como nos sentimos?’) antes de se mostrar preocupado em saber como os outros reagirão ao ficarem sabendo do problema (‘Quem somos?’)”.
Nesse caso, ele aconselha que se “combinar”, ou “espelhar” as emoções, de modo a criar uma conexão empática com o interlocutor. “Em um nível muito básico, se alguém parece emotivo, permita-se ficar emotivo também. Se alguém está inclinado pela tomada de decisão, iguale esse foco. Se a pessoa está preocupada com as implicações sociais, espelhe essa fixação de volta para ela.”
Um supercomunicador, portanto, consegue avaliar de forma eficaz o mindset do interlocutor e combinar com ele, levando a conversa de um modo que reflita as necessidades de ambos. “Dentro de cada conversa há uma negociação silenciosa em que o objetivo não é vencer, mas determinar o que todos querem, de modo que algo significativo possa suceder”, sustenta Duhigg.
No entanto, em vários de seus estudos de caso, a referência de Duhigg do que é comunicação eficiente muda do que é entendimento mútuo para persuasão – ficando implícito
que esta é a real motivação para ser um supercomunicador. “Como convencer alguém, por meio de uma conversa, a correr um risco, embarcar numa aventura, aceitar um trabalho, marcar um encontro romântico?” Por exemplo, Duhigg analisa como médicos persuadiram seus pacientes antivacina a se imunizarem contra a covid-19. Ele discute o caso de uma médica chamada Rima Chamie, que convenceu um paciente extremamente religioso, que rejeitava vacinas porque acreditava que Deus o protegeria, a se imunizar, usando como base para conquistar sua confiança traços de identidade em comum. Em vez de impor seu conhecimento médico ao paciente, Chamie disse a ele que também valorizava a fé e a família. Apropriando-se da linguagem dele, ponderou que ela também se preocupava muito com a
Se apenas escutar, conectar e redirecionar conversas bastasse para superar divisões, já não teríamos conseguido eliminar controvérsias a respeito de temas como controle de armamentos e aborto? Em vez de mergulhar no assunto, Duhigg se volta para seu objetivo anterior: um supercomunicador não quer vencer, mas entender – primeiro passo para humanizar todas as partes em um conflito. Apesar de admitir que o acordo nem sempre é possível, ele oferece insights sobre como as ferramentas do livro podem unir as pessoas quando as perspectivas divergem muito.
Ele dá o exemplo de um workshop organizado pela companhia de mídia Advance Local em 2018, reunindo ativistas contra as armas e defensores de sua liberação para “fazer com que todos começassem a compartilhar histórias pessoais sobre armas e contro-
Embora o guia de Duhigg seja menos bem-sucedido no campo do discurso político, ele registra como intervenções planejadas em organizações podem dar resultados de longo prazo. Ele mostra o exemplo da Netflix. Depois que seu diretor de comunicação usou um termo racista [a “n-word”] em uma reunião, em 2018, a empresa implementou protocolos para se referir ao incidente e ao racismo sistêmico que ele revelou. Conduziu treinamento e conversas sobre diversidade em todos os níveis da empresa, com o objetivo de “promover o diálogo, enfrentar preconceitos e tornar a Netflix um exemplo reluzente de inclusão”. Em 2021, a maioria dos funcionários tinha sido capacitada, e a Netflix estava preparada para lidar com outra tempestade, se surgisse. Os funcionários podiam expressar suas preocupações
Em vários de seus estudos de caso, a referência de Duhigg do que é comunicação eficiente muda de entendimento mútuo para persuasão –ficando implícito que esta é a real motivação para ser um supercomunicador
saúde de seus filhos e netos. E, então, para expressar quão grata era a Deus por ter dado aos humanos a habilidade para desenvolver vacinas, ela usou uma pergunta sutil (e retórica): “Será que Ele não nos deu as vacinas pensando na nossa segurança?”. A indagação deixou a resposta – e o poder de decidir sobre a imunização – nas mãos do paciente, como um sinal de confiança. Ao construir um terreno comum para a conversa, assentando-se sobre seus valores e, em especial, seu desejo mútuo de proteger a família, Chamie deu espaço para que o paciente mudasse de opinião. Ele decidiu se vacinar.
Duhigg escolhe histórias que, na maioria dos casos, favorecem o bem comum, como a da médica. Contudo, ele ignora situações em que o dano social deriva dos poderes de persuasão do supercomunicador. Ao deixar esses casos de lado, Duhigg evita se aprofundar em discussões éticas relacionadas à responsabilidade do supercomunicador com seus interlocutores. Mas, em tempos de alta global do populismo, não colocar essa interrogação ética é um descuido notável. Afinal de contas, a emoção é o combustível para a política divisiva dos líderes autoritários.
Dessa forma, o argumento do livro se vê apartado da realidade política que vivemos.
le de armas, sobre as emoções e os valores em que baseavam suas convicções e, a seguir, verificar se isso mudaria o tom do debate”. Os participantes ouviram os casos contados, entenderam as divergências e acharam pontos de concordância – os organizadores consideraram o evento um sucesso. No entanto, a conversa degringolou rapidamente após migrar para o online, incluindo participantes que não haviam feito o treinamento. “Nem todos superaram suas animosidades”, relata Duhigg. “Alguns foram expulsos pelos moderadores, outros optaram por sair.”
Seus únicos conselhos para lidar com o discurso online – ser educado ao máximo, abster-se de criticar e demonstrar-se agradecido – são excessivamente simplistas e passam por cima da dura realidade do assédio virtual e, em particular, de seu impacto em comunidades marginalizadas. Misoginia e racismo são exacerbados pela mentalidade de manada que prevalece online, e não ter de mostrar a cara protege os perpetradores. Treinamentos de técnicas de comunicação surtem efeito em ambientes controlados, mas se mostram limitados quando aplicados a cenários de ampla escala que não impõem uma responsabilização, em especial quando se trata de interlocutores anônimos.
uns para os outros e para as chefias de uma forma empática que fazia com que todos se sentissem ouvidos. Duhigg admite que a “transformação genuína exige mudanças não só na forma como a Netflix contrata, promove e apoia seus funcionários, mas na sociedade como um todo”. Mas, acrescenta, a empresa ultrapassou “todas as outras grandes firmas do Vale do Silício, bem como de Hollywood, na contratação de grupos sub-representados”. Nenhuma firma vai promover crescimento e inclusão significativa evitando encarar seus pontos cegos e as conversas difíceis.
Duhigg mostra que a comunicação pode operar transformações quando os interlocutores buscam um acordo e se permitem “reconhecer as diferenças sociais” em vez de “fingir que elas não existem”. Embora não sejam inéditas, as ferramentas que ele reúne podem fomentar maior compreensão e proveito nas interações pessoais. Nem sempre vamos chegar aonde queremos em uma conversa, mas podemos buscar nos conectar com os demais de forma mais consciente – e essa é, em si, uma meta legítima. O
AYESHA ANNA NINAN é editora de filmes e consultora de roteiros radicada em Mumbai, na Índia.

Embora seja o segundo maior bioma do Brasil, cobrindo 25% do nosso território, o cerrado não recebe do público geral atenção do tamanho de sua importância – lembrada no calendário nacional a cada dia 11 de setembro. Mais que celebração, a data ganha tons de um pedido de ajuda. Nos cinco primeiros meses de 2024, registrou-se no cerrado o dobro de focos de queimadas em relação à média para o período.
Criada em 2011, a Associação Onçafari luta há mais de uma década contra essa e outras estatísticas negativas para a região, atuando pela conservação do meio ambiente e pelo desenvolvimento socioeconômico nacional. Suas atividades começaram pelo monitoramento de onças no Pantanal. O animal ainda é central em seu trabalho, mas hoje também outras espécies, como o lobo-guará, símbolo do cerrado, são alvo de projetos da entidade. Suas atividades cobrem diferentes biomas e envolvem a promoção do ecoturismo, a educação ambiental e a conscientização junto às comunidades para preservar a biodiversidade. Saiba mais sobre seu trabalho em oncafari.org

Encontros inesperados e abraços genuínos compõem a trajetória do Instituto Sabin. E já se vão 19 anos!
Te convidamos a assistir a campanha que preparamos para celebrar essa jornada incrível. Cada abraço e cada conexão contam uma história de transformação e cuidado.

Escaneie o QRcode e assista a campanha completa em nosso canal do YouTube!
em 5 anos , nossos investimentos já transformaram a vida de mais de 2 milhões de pessoas em todo o Brasil
imagine o que podemos alcançar juntos nos próximos anos!

Conheça o jeito bem maior de fazer filantropia estratégica.
@movimentobemmaior