MUDAR SISTEMAS A PARTIR DAS RELAÇÕES
Por Juanita Zerda, Katherine Milligan e John Kania
ECOSSISTEMAS LOCAIS DE INFORMAÇÃO
Por Izabela Moi e Nina Weingrill
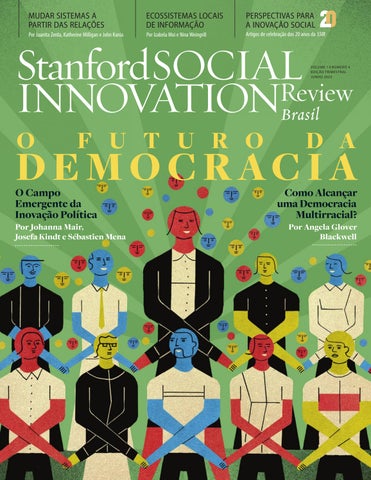
MUDAR SISTEMAS A PARTIR DAS RELAÇÕES
Por Juanita Zerda, Katherine Milligan e John Kania
ECOSSISTEMAS LOCAIS DE INFORMAÇÃO
Por Izabela Moi e Nina Weingrill

O Campo Emergente da Inovação Política

Por Johanna Mair, Josefa Kindt e Sébastien Mena
Como Alcançar uma Democracia Multirracial?
Por Angela Glover Blackwell



POR ANGELA GLOVER BLACKWELL
Os Estados Unidos precisam de uma história honesta e inspiradora –e que não se intimide ante seu histórico racial – para levar à realização de uma democracia multirracial vibrante.
POR JOHANNA MAIR, JOSEFA KINDT E SÉBASTIEN MENA




A sociedade civil tem se dedicado a solucionar problemas sociais há décadas, enquanto deliberadamente se abstém de um engajamento aberto com a política. Mas um novo campo de prática busca revigorar a democracia emancipando a inovação social desse confinamento.
Só podemos acabar com os impactos desastrosos das fake news garantindo a existência e apoiando o desenvolvimento de iniciativas locais que contribuam para reduzir os desertos de notícia. Munir os cidadãos de informação para que possam participar da vida pública a partir do território onde residem é a única forma de proteger a democracia.
POR JUANITA ZERDA, KATHERINE MILLIGAN E JOHN KANIA
As relações são fundamentais para a mudança coletiva e para desenvolver laços profundos de empatia que ajudem a encontrar soluções sistêmicas para os problemas sociais.
A Emergência de Relações que Possibilitam Mudanças Sistêmicas
Para realizar a promessa democrática da organização comunitária, os doadores precisam deixar de ver a prática meramente como um instrumento para promover seus objetivos políticos e táticos.
— PARA SALVAR A DEMOCRACIA, ORGANIZE RECURSOS, PÁG 58
4 CARTA AO LEITOR
20 Anos de SSIR
5 EDITORIAL BRASIL
SSIR ONLINE

A História é Viva
6 O QUE HÁ DE NOVO
Livrarias como Centros Cívicos / Aumentando a Força de Trabalho Verde / Uma Escola de Conhecimento Nativo / TV para os Surdos da África
50 ESPECIAL SSIR 20 anos
Ensaios de alguns dos mais renomados pesquisadores, pensadores e profissionais no mundo.
51 A Celebração dos 20 Anos
PAUL BREST
52 Uma "Reimaginação" Radical para Criar uma Perspectiva para nosso Futuro
ANA MARIE ARGILAGOS E HILDA VEGA
54 Em Defesa de Um Altruísmo Efusivo
ASHA CURRAN
55 O Futuro do Ensino e do Aprendizado da Inovação Social WARREN NILSSON
PONTO DE VISTA
58 Para Salvar a Democracia, Organize Recursos
As filantropias preocupadas com polarizações tóxicas e com o crescente extremismo político deveriam investir na organização comunitária.
POR LOREN MCARTHUR
HISTÓRIAS DO CAMPO
10 Um Banco Próprio
Ignoradas pelos sistemas financeiros tradicionais, profissionais do sexo do maior distrito asiático de prostituição criaram seu próprio banco. Agora, a instituição está capacitando outros grupos marginalizados.
POR PUJA CHANGOIWALA
12 Notícias nas quais Você Pode Confiar
O The Trust Project está estabelecendo padrões, no mundo todo, para o jornalismo de princípios combater a disseminação de desinformação e reconstruir a confiança pública.
POR NOOR NOMAN
60 Empreendedoras Sociais Sauditas
Mulheres do Oriente Médio que tentam lançar empresas sociais enfrentam barreiras significativas, mas podem superá-las potencializando laços sociais.

POR GHADAH W. ALHARTHI E TUUKKA TOIVONEN
64 PESQUISA
Conhecimento sobre Poluição do Ar É Poder / Disciplinar, Punir e Mitigar / Para os Investidores, o Protesto Supera o Desinvestimento / Os Valores da Mentoria
LIVROS
68 Manifesto pela Clareza
Manifesto pela Educação Midiática, de David Buckingham.
POR ALEXANDRE LE VOCI SAYAD
70 Cultivar, Semear e Plantar um Mundo Melhor
Viral Justice: How We Grow the World We Want, de Ruha Benjamin.

POR MEHR TARAR
72 ÚLTIMO OLHAR
Janelas para a Vida























AStanford Social Innovation Review está completando duas décadas. Quando entrei na SSIR, em 2006, tratava-se de uma iniciativa mais modesta: publicávamos uma revista trimestral e um site, para onde iam PDFs de nossos artigos da revista impressa. Hoje, a SSIR oferece muitas outras possibilidades de interação entre seu público e colaboradores: webinars, conferências, podcasts, artigos online originais, edições em idiomas locais, e-books e, em breve, livros impressos Embora a gama de produtos oferecidos pela SSIR tenha mudado, nossa missão segue a mesma. Conforme resumido na primeira edição, “a SSIR se dedica a apresentar o conhecimento utilizável que ajudará aqueles que fazem o importante trabalho de melhorar a sociedade a fazê-lo ainda melhor”. Hoje, continuamos comprometidos em fornecer uma plataforma onde pessoas de todos os setores da sociedade – sem fins lucrativos, governamentais e empresariais – possam se reunir para compartilhar novas ideias e práticas, criticar as existentes e aprender umas com as outras.
Quando a SSIR foi lançada, na primavera de 2003, seu público eram principalmente líderes de mudança social de todos os lugares nos Estados Unidos. Com o tempo, crescemos e nos tornamos um espaço de reunião para pessoas de todo o mundo. Quase metade das pessoas que lêem a SSIR online em inglês estão fora dos Estados Unidos. E agora temos parceiros em Pequim, Seul, Tóquio, São Paulo, Abu Dhabi e Monterrey, México, que publicam a SSIR em seu idioma local.
As edições locais não apenas traduzem artigos da SSIR; elas também oferecem artigos originais, livros e reuniões virtuais e presenciais para pessoas engajadas na mudança social em seus próprios países e regiões.
Assim como a SSIR mudou, o mundo ao nosso redor também já não é mais o mesmo. Hoje, existem muitas outras publicações que cobrem o campo da inovação social, como ImpactAlpha e India Development Review, além de jornais e revistas populares. Você pode ler artigos sobre investimento ESG no The Asahi Shimbun, sobre filantropia altruísta na The New Yorker ou sobre uma ONG de desenvolvimento global no The Guardian. Embora isso seja bom para o campo da inovação social e para a sociedade, para nós representa novos desafios e exige estar em constante evolução e mudança.
Esta edição não apenas marca nosso 20o aniversário, mas também duas transições importantes na equipe. Michael Voss, desde 2017 foi o publisher da SSIR, nos deixa para assumir a mesma posição na Science News, uma publicação sem fins lucrativos que comemorou cem anos no ano passado. As contribuições de Michael para a SSIR são muitas, mas uma área em que ele desempenhou um papel importante foi em nos ajudar a expandir nossa presença global.
O diretor de arte, David Herbick, na SSIR desde 2008, está saindo para desfrutar de uma merecida aposentadoria. Quando David se juntou a nós, ele criou um novo visual, projeto gráfico e logotipo, e embora a revista tenha passado por mudanças nos últimos 15 anos, ainda mantém muito da mesma identidade.
Transições como essas são normais em qualquer organização. O novo publisher e o diretor de arte trarão novas ideias que mudarão a aparência e a maneira como a SSIR opera, o que é bom e chega em um ponto importante de nossa história ao embarcarmos em nossos próximos 20 anos.
Diretora-geral Carolina Martinez carolina@ssir.com.br
Editora-chefe Ana Claudia Ferrari ana.ferrari@ssir.com.br
Editor-assistente Bruno Ascenso
Programador Web Daniel Miranda
Estagiária Bárbara Lopes da Silva
Agência de FYI Consultoria
Comunicação
Colaboraram nessa edição: Arte Estúdio Monearte
Tradução Alexandre Agabiti Fernandez, Camilo Adorno, Cláudia Izu, Saulo Krieger
Revisão Mauro de Barros, Paulo Felipe Mendrone
Conselho Editorial
Daniela Pinheiro
Eliane Trindade
Graciela Selaimen
Guilherme Coelho
Letícia Vidica
Marcos Paulo Lucca Silveira
Mantenedores Institucionais
Fundação José Luiz Egydio Setúbal
Humanitas360
Movimento Bem Maior
Samambaia Filantropias
CIVI-CO | Negócios de Impacto Social
R. Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 445 – Pinheiros, São Paulo – SP, 05415-030
Quer falar com a SSIR Brasil?
Redação: contato@ssir.com.br
Projetos especiais, publicidade, eventos: marketing@ssir.com.br
Stanford Social Innovation Review Brasil é uma publicação da RFM Editores sob licença da Stanford Social Innovation Review
Publisher Michael Voss
Editor-Chefe Eric Nee
Editora acadêmica Johanna Mair
Editores David V. Johnson, Bryan Maygers, Marcie Bianco, Aaron Bady, Barbara Wheeler-Bride
Editora edições Jenifer Morgan globais
Conselho Consultivo Acadêmico
Paola Perez-Aleman, McGill University
Josh Cohen, Stanford University
Alnoor Ebrahim, Harvard University
Marshall Ganz, Harvard University
Chip Heath, Stanford University
Andrew Hoffman, University of Michigan
Dean Karlan, Yale University
Anita McGahan, University of Toronto
Lynn Meskell, Stanford University
Len Ortolano, Stanford University
Francie Ostrower, University of Texas
Anne Claire Pache, ESSEC Business School
Woody Powell, Stanford University
Rob Reich, Stanford University
A Stanford Social Innovation Review (SSIR) é publicada
pelo Stanford Center on Philanthropy and Civil Society da Stanford University.
Todos os direitos reservados.
Aqueles que conhecem o ofício sabem o quão prazeroso (e extenuante) é fechar uma revista. Da definição do conteúdo às trocas com autores, tradutores, revisores, ilustradores, editores, designers, o processo é rico, colaborativo e estimulante.
Nesta edição, os artigos são especialmente potentes: do foco em problemas já conhecidos (e não mais suportáveis como o racismo, por exemplo) a cenários que contemplam soluções, da política ao ambiente informacional, os textos levam a reflexões profundas e necessárias.
Pense nesta frase do escritor americano James Baldwin: “A história não se refere meramente, ou mesmo principalmente, ao passado. Ao contrário, a grande força da história provém do fato de que a carregamos conosco, de que de muitas maneiras somos inconscientemente controlados por ela e de que ela está literalmente presente em tudo o que fazemos”.
Ao citá-la num dos artigos de capa da edição, Angela Glover Blackwell reconta a trajetória de um país construído a partir de “estruturas econômicas, jurídicas, institucionais, sociais e psicológicas forjadas desde a escravidão que sistematizaram e codificaram a opressão”. E discute então os elementos para os Estados Unidos escreverem uma nova história e estabelecerem “o arcabouço em torno de raça e racismo, sem o qual não se pode nem decifrar as causas profundas dos duradouros e sistemáticos desafios, nem desenvolver soluções eficazes e equitativas”.
A perspectiva brasileira sobre algumas das questões levantadas por Blackwell vem de Daniel Bento Teixeira, do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades (CEERT), que num breve texto fala sobre contextos tão tristemente familiares e aponta para a educação antirracista como parte inexorável do processo de construção de uma sociedade democrática.

O outro artigo de capa, coassinado pela editora acadêmica da SSIR, Johanna Mair, traz perspectivas para lá de estimulantes sobre o que os autores chamam de inovação política: “A prática cidadã de diagnosticar problemas no sistema político e trabalhar coletivamente visando soluções que tenham o objetivo de fortalecer e revitalizar a democracia”.
Também nesta edição, Juanita Zerda, Katherine Milligan e John Kania discutem a mudança de sistemas a partir de relações, numa abordagem extremamente sensível. “Se a maioria dos esforços de mudança coletiva não leva as pessoas a mudar fundamentalmente sua consciência e seus modelos mentais”, dizem, “então o sistema do qual fazem parte também não mudará de maneira significativa.”
Cássio Aoqui, Tiana Vilar Lins e Vanessa Prata mostram como o trabalho relacional ecoa no ecossistema de impacto social brasileiro.
Dois destaques finais são o texto de Izabela Moi e Nina Weingrill sobre acesso à informação e democracia e também o material sobre O Futuro da Inovação Social. O conteúdo completo incluindo importantes contribuições brasileiras estará disponível em breve no site. Boa leitura!
Um dos maiores desafios para que o Brasil atinja os ideais de equidade e desenvolvimento sustentável é voltar a sair do mapa da fome e encontrar respostas eficazes para a [in]segurança alimentar. Este é o tema da primeira edição especial da Stanford Social Innovation Review Brasil.
Patrocinado pela Fundação José Luiz Egydio Setúbal, o especial reúne sete artigos de autores brasileiros sobre programas de inovação e impacto social voltados para a saúde nutricional de crianças e adolescentes. Com abordagens diversas que buscam combater não só a fome, mas também as suas causas, os projetos estão em desenvolvimento em cinco estados brasileiros. De programas de transferência de renda, combate à má nutrição, aposta nas merendeiras e hortas comunitárias, os casos foram apresentados no IV Fórum de Políticas Públicas em Saúde Infantil (FPPSI) da Fundação José Luiz Egydio Setúbal (FJLES). Acesse ssir.com.br e baixe seu exemplar.
ARTIGO | Não Alimente os Zumbis
Muitas organizações sem fins lucrativos não têm bom desempenho, de acordo com alguns especialistas. Mas isso não as impede de continuarem a arrecadar fundos e se manterem vivas. “Eu costumava culpar essas organizações, perguntando por que elas não trabalharam mais, de forma mais inteligente”, escreve o CEO da Fundação Mulago, Kevin Starr. “A ausência de responsabilidade pelo impacto é a maldição do setor social, e parecia óbvio que as organizações eram os principais infratores. Mas elas não são. Somos nós, os financiadores.” Como quem financia pode trabalhar melhor? Starr sugere começar com cinco perguntas simples.
ARTIGO | A Tecnologia de Ponta nem Sempre É o Melhor
A resposta de ajuda internacional à guerra na Ucrânia tem mostrado avanços notáveis na telemedicina e revelado que nem sempre as soluções mais sofisticadas funcionam melhor. Ao permitirem que os médicos respondam de forma assíncrona, a telemedicina e as consultas por texto ou áudio podem ter resultados de alcance muito maior, com um número expressivo de pacientes atendidos. A estratégia pode desempenhar um papel importante diante da escassez iminente de médicos assistenciais não só nos Estados Unidos, mas também em outras partes do mundo.
ENGAJAMENTO CÍVICO
ara a indústria do livro, as duas últimas décadas foram uma montanha-russa. O surgimento de superlojas como a Borders e Waldenbooks varreu o cenário do varejo no fim dos anos 1980 e início dos 1990 nos Estados Unidos. Símbolos de resistência, as livrarias
esforços, disseminados como estavam, mantiveram o setor vivo. Na verdade, o número de lojas foi de 1.650 em 2009 para 2.500 em 2022, de acordo com a Publishers Weekly.
Livreiros, escritores e editores têm investido no crescimento contínuo das lojas independentes como centros
Praveen Madan, coorganizador da conferência e CEO da Kepler’s Books em Menlo Park, na Califórnia.
A conferência ocorreu em formato digital aberto, no qual os participantes sugeriram assuntos diversos e se organizaram em grupos de discussão. Alguns deles continuaram se reunindo com regularidade pelo Zoom.
“Encontrar-se mensalmente com os donos de livrarias da conferência para discutir as
independentes garantiam serviços personalizados e eventos locais. Em meados da década de 1990, porém, viram seu espaço concorrer com as livrarias on-line. Atualmente a Amazon vende cerca de 50% de todos os livros impressos no país e os e-books compreendem 11% do total de livros vendidos.
Apesar desse tumulto, as livrarias independentes provaram ser resilientes, ao passo que a maioria das superlojas fechou desde então. De modo surpreendente, uma massa crítica de donos de livrarias independentes acreditou que os desafios de diminuição de margens e as compras online não eram intransponíveis, e seus
comunitários culturais. Um pequeno grupo de apoiadores trabalhou em prol de seu comprometimento com elas e organizou uma conferência digital de dois dias em outubro de 2021, chamada Reimagining Bookstores (Reimaginando Livrarias, em tradução livre). Esse evento, que contou com a experiência de Sandra Janoff, cofundadora da Future Search Network, ajudou a conectar a visão do movimento com o público. Mais de 600 participantes se inscreveram e 350 compareceram. Os organizadores esperavam 200.

“Reimagining Bookstores é um movimento para fortalecer as comunidades, aprofundar o conhecimento e remunerar salários dignos”, afirma
melhores práticas de marketing foi um grande benefício”, diz Brad Jones, coproprietário da BookSmart. “Obter conhecimento de proprietários de cooperativas de livrarias, uma estrutura que estamos considerando, ajudou-nos a refletir sobre nosso futuro.”
Como a maioria dos movimentos sociais, a estrutura organizacional é fluida. “Por enquanto, estamos mantendo o projeto descentralizado, com núcleos de atividades”, explica o coorganizador, escritor e editor Paul Wright. “Ainda estamos entendendo o que significa ser um movimento, em termos de estrutura e como sistema dinâmico com muitas partes móveis.”
O financiamento para projetos provém de diversas fontes. O braço filantrópico do Emerson Collective atualmente trabalha com um portfólio de 12 livrarias independentes – a primeira das três fases de sua agenda para livrarias –, que será expandido para 24 ainda em 2023. As selecionadas representam três tipos de negócio: locais sem livrarias, livreiros sub-representados e modelos inovadores. Essas lojas vão receber um auxílio plurianual e serviços de capacitação, além de acesso a sessões online para orientação em grupo. E o defensor de livrarias e investidor de impacto John Valpey está dando consultoria financeira e operacional pro bono e oferecendo empréstimos com juros reduzidos – ou sem juros – em termos flexíveis para sete livrarias independentes localizadas na região da Nova Inglaterra.
Promotores de livrarias como Valpey estão disponibilizando tempo e conhecimento para novas iniciativas. Por exemplo, o projeto Community Conversation (Conversa da Comunidade, em tradução livre) promove o discurso cívico e fortalece a comunidade por meio do diálogo entre os participantes. A coorganizadora e autora Peggy Holman liderou um evento com a jornalista Mónica Guzmán e 150 pessoas sobre como superar a divisão partidária.
Em 2023, avançam inicitivas como a Beyond Books (Além dos Livros, em
tradução livre), um projeto comunitário que visa à realização de mudanças sociais positivas inspirado por três indivíduos – um editor, um autor/editor e o dono de uma livraria – que se conheceram na conferência. E, ainda em fase de concepção, um grupo de 10 a 15 livrarias independentes organiza uma série de eventos, mostras e outras experiências em torno de temas socialmente relevantes e adaptados a suas respectivas comunidades. Além disso, dois workshops estão previstos para este ano sobre como pagar salários dignos a funcionários de livrarias independentes.
“Estamos apoiando as livrarias com novas formas de engajar suas comunidades, acessar financiamento e adotar novos modelos de negócios”, revela Madan. Ele enfatiza, porém, que as livrarias independentes “precisam [ter] uma visão mais ampla, e não apenas ser um canal para as editoras”.
Novas iniciativas vão continuar a surgir organicamente, incluindo um futuro hub centralizado por meio do qual as próprias livrarias vão gerenciar sua participação. E, dado o sucesso da conferência, uma segunda está planejada para 2023. “Os movimentos começam quando uma crise é nomeada de uma forma que toca um acorde”, observa Holman, porque quando “as pessoas são atraídas por significado, intenção, propósito… ao longo do caminho, elas encontram almas gêmeas”. n
MEIO AMBIENTEá mais de 3,5 milhões de árvores na cidade de Chicago. Conforme a mudança climática se agrava, essa floresta urbana ganha um papel crucial na mitigação de seus efeitos, ao reduzir as temperaturas locais, aliviar a poluição do ar e controlar as águas pluviais
Com sede em Chicago, a organização sem fins lucrativos Openlands cuida da floresta urbana da cidade desde 1963. Atenta à crise climática, essa organização tem como o mais recente compromisso o programa Arborist Registered Apprenticeship (Aprendizado do Arborista Registrado), lançado em 2021. Entrando em seu terceiro ano, o programa é focado na criação de uma força de trabalho verde diversificada e sustentável.

“Se desejamos que as pessoas cuidem da floresta urbana e a administrem ativamente, uma forma de fazer isso é introduzi-las em carreiras bem remuneradas”, diz Michael Dugan, diretor florestal da Openlands.
O primeiro programa registrado em Illinois oferece três anos de treinamento remunerado em arboricultura e silvicultura urbana e suporte de transição para que os participantes tenham empregos estáveis após o treinamento.
Antes de iniciar o programa, a Openlands vinha treinando
havia cinco anos indivíduos interessados em carreiras ecológicas. Na busca por formalizar um programa sob medida para esse treinamento, a organização recorreu à Federação do Trabalho de Chicago (CFL, na sigla em inglês) para obter assistência técnica e financiamento. Força de trabalho sem fins lucrativos, a CFL é uma organização de desenvolvimento econômico que apoia vários programas de aprendizado em áreas tão diversas quanto ciência culinária e manufatura avançada.
A CFL auxiliou a Openlands a se conectar e pedir financiamento federal da lei Workforce Investment Act por meio da Chicago Cook Workforce Partnership, que administra os fundos federais de emprego e treinamento da região. A Openlands também recebe apoio corporativo, contribuições individuais e financiamento de fundações, como a Hamill Family
Foundation e a Illinois Clean Energy Community Foundation.
Eileen Vesey, diretora do programa CFL Workforce and Community Initiative, observa que o programa de aprendizado aborda a força de trabalho, o desenvolvimento comunitário e as necessidades relacionadas às mudanças climáticas, ao mesmo tempo que coloca os aprendizes em carreiras promissoras. “Este é apenas o ponto de partida”, diz Vesey. “Dependendo de quais são seus objetivos e interesses, você estará ingressando em uma ocupação na qual terá outras oportunidades de crescimento.”
O programa é dividido em dois segmentos: um ano de treinamento prático e em sala de aula com a Openlands e dois anos com um empregador secundário para treinamento adicional. Dugan relata que durante o primeiro ano os aprendizes “constroem uma base de conhecimento sobre árvores” por meio de aulas que são “ministradas por parceiros da indústria e arboristas internos”.
O programa também recebe financiamento via Openlands e apoio de parceiros empregadores secundários, como parques privados e empresas comerciais
de manutenção de árvores, que empregam e treinam aprendizes no segundo e terceiro anos do programa. Esses parceiros recebem benefícios, incluídos créditos fiscais, suporte financeiro para capacitação e uma seleção de candidatos aprendizes com um ano de treinamento rigoroso em sala de aula e credenciais específicas do setor para as vagas.
A Openlands e os parceiros do projeto também investem no desenvolvimento de uma força de trabalho mais diversificada que reflita as comunidades da área de Chicago. De acordo com dados da plataforma digital de empregos Zippia, mais de 70% dos arboristas nos Estados Unidos são brancos e 93% são homens.
Esse compromisso com a diversidade atraiu Emmanuel Gamez, um aprendiz de 32 anos da segunda turma, para o programa Openlands. “Não há muitas oportunidades de treinamento para grande parte da comunidade latinx que trabalha no setor, então o progresso na carreira não ocorre onde deveria”, observa ele. O programa Openlands está “definitivamente oferecendo uma
EDUCAÇÃO
vantagem às pessoas sub-representadas e marginalizadas do setor”, acrescenta.
Para manter as barreiras à participação tão baixas quanto possível, a CFL paga pela assistência de transporte de e para as aulas e outros compromissos relacionados ao programa. Os aprendizes recebem pacotes competitivos de emprego, incluído aumento salarial estruturado a cada seis meses. Além disso, têm acesso a feiras de carreira e oportunidades significativas de networking, como a reunião anual da Illinois Arborist Association.
Essas oportunidades são vitais para aprendizes sem conexões ou conhecimento das normas da atividade. “As pessoas que estão fora desse espaço não estão cientes das oportunidades ou de quais são as trilhas para a carreira”, observa Vesey.
Para garantir a longevidade do programa, a Openlands planeja incluir mais parceiros de trabalho secundários. Vesey afirma estar confiante de que o programa tem potencial para crescer porque é “uma vitória para todos”, que beneficia o clima, as comunidades, os aprendizes e os empregadores. n
sistema educacional de Uganda está abarrotado de problemas. A evasão escolar atinge 25% dos jovens de 13 a 18 anos, motivada, em grande parte, pela pobreza e sexismo. As famílias pobres e de baixa renda não
de 30 anos, esses dados alarmam funcionários do governo e empresários pela necessidade de uma população instruída para impulsionar a economia. No enclave rural de Kasasa, membros da comunidade estão determinados a mudar os resultados da educação para o bem coletivo. Em janeiro, eles lançaram a Tat Sat Community Academy (TaSCA), uma escola para jovens locais que oferece educação acessível dedicada a enriquecer seus conhecimentos culturais, para que preservem e se orgulhem da herança compartilhada.
A academia consiste em uma escola e Instituto de Culturas Nativas e Artes Cênicas (ICPA, na sigla em inglês), que serve como centro de aprendizado cultural para alunos e para a comunidade geral de Kasasa. Com capacidade para 500 alunos entre 12 e 18 anos, que pagam apenas 50 centavos por dia pela frequência, a academia planeja contratar cerca de 24 professores neste ano, dependendo da base o número de matrículas. A ideia é manter a relação professor-alunos melhor do que os padrões nacionais. Concebido de acordo com os critérios nacionais de educação, o currículo também enfatiza habilidades práticas de trabalho, educação financeira e conhecimento cultural.
lucrativos, é cofundador da InteRoots Initiative, com sede em Denver. Autodenominada organização filantrópica não colonial, a InteRoots acredita que as comunidades locais são as mais capazes para resolver seus próprios desafios e determinar seu futuro.
O ICPA vai dedicar parte significativa de sua programação à documentação e ao arquivamento do conhecimento cultural, em especial as formas de música e dança. “Sabe-se que as tradições de povos originários em Uganda, como em muitas outras comunidades africanas, são conhecidas por terem sido transmitidas pelas músicas e danças tradicionais nas comunidades locais”, explica Kibirige, que tem experiência na prática e pesquisa de música e dança africanas. “A cultura tradicional tem sido a âncora da maioria das atividades comunitárias na África.”
Os membros da comunidade envolveram-se em todos os aspectos do projeto, incluída a participação das reuniões da comunidade, com a criação da visão do projeto e o estabelecimento do conselho comunitário de nove membros. O comitê administra uma organização cooperativa de poupança e crédito (SACCO), que fornece ajuda financeira estudantil e educação financeira.
conseguem pagar as mensalidades escolares e o casamento infantil, a gravidez na adolescência e o abuso sexual na escola são as principais barreiras à educação das meninas.
Com mais de 75% dos 47 milhões de ugandenses abaixo
Em 2019, os moradores de Kasasa contataram Ronald Kibirige com a ideia de um projeto que promoveria educação, finanças e cultura em sua comunidade. Kibirige, um ugandense com conexões com a comunidade Kasasa por meio de um trabalho sem fins
De acordo com o cofundador e diretor executivo da InteRoots, M. Scott Frank, a filantropia é o único financiador da TaSCA, e doou mais de US$ 550 mil (aproximadamente R$ 2,5 milhões) até o momento. O financiamento da InteRoots ergueu os prédios da
academia, financiou totalmente a criação da SACCO e semeou seu portfólio de investimentos. A InteRoots também custeou a construção de um moinho de milho local e a aquisição do maquinário necessário para sua operação.
Além de receber educação subsidiada, os alunos têm a oportunidade de se candidatar a auxílio financeiro por meio do Graduate Enterprise Fund. Os recursos desse fundo, provenientes das taxas escolares, serão concedidos a estudantes com um plano promissor para metas futuras – como seguir em seus estudos ou iniciar um negócio – após a formatura.
“O mais empolgante sobre a TaSCA e a InteRoots é o fato de que a parceria está funcionando”, observa Frank, ressaltando que o apoio das agências locais e do governo, bem como a responsabilidade da comunidade, tem contribuído para sua eficácia.
O desafio, acrescenta Frank, será garantir que os padrões estabelecidos pela comunidade sejam mantidos em fases de rápido crescimento. Para isso, a InteRoots planeja apoiar o projeto nos primeiros dois anos de operação, o que exigirá que continuem captando fundos em nome do projeto.
O sucesso da TaSCA será o barômetro para dois outros projetos de educação com base na comunidade que foram imaginados pela InteRoots: um em Atlanta, na Geórgia, e outro em terras tribais na área de Four Corners, no sudoeste dos EUA, para atender povos originários de toda a América do Norte. n
VALENTINE BENJAMIN (@theValentineBen) é um jornalista e fotógrafo de viagens nigeriano que já fez reportagens sobre saúde global, justiça social, política e desenvolvimento na Nigéria e na África Subsaariana.
ARTE & CULTURA
POR VALENTINE BENJAMIN m Uganda, mais de 1 milhão de indivíduos têm deficiência auditiva. Eles estão entre as 136 milhões de pessoas na África que apresentam algum grau de perda auditiva, segundo relatório de 2021 da Organização Mundial da Saúde.
A conscientização sobre a perda auditiva no continente é baixa. Muitas comunidades têm poucos ou nenhum intérprete de língua de sinais, o que impede o acesso de pessoas com deficiência auditiva a recursos públicos e médicos. Por isso, o Parlamento de Uganda aprovou uma lei em 2019 que determina que todos os noticiários em emissoras de TV públicas e privadas tenham um intérprete de língua de sinais.
Para contornar a inação do governo diante da lenta implementação, Susan Mujjawa, uma intérprete de língua de sinais, e Simon Eroku, um inovador que é surdo, lançaram a TV Signs Uganda em abril de 2022. Com transmissão no YouTube, a TV Signs é o primeiro canal do país dedicado a fornecer conteúdo de mídia em língua de sinais de Uganda, projetado especificamente para pessoas com deficiência auditiva. O canal se une às emissoras de língua de sinais TV Surdo em Moçambique e Canal Hipoacúsico Educativo na Argentina ao usar âncoras surdos para ler notícias que são simultaneamente traduzidas por um intérprete.

Quando teve a ideia do canal, Mujjawa trabalhava
como intérprete de língua de sinais na emissora NTV Uganda, na qual apenas uma hora da programação diária era produzida para pessoas com deficiência auditiva.
Nem todas as pessoas surdas podem recorrer a fontes de mídia online, pois muitas não sabem ler. Somente quando a informação é convertida em linguagem de sinais ela aparece, reforça Mujjawa, “no formato mais acessível”.
Remera Nainerugaba, um ugandense de 35 anos que começou a assistir à TV Signs no mês de seu lançamento, diz que ficou especialmente frustrado durante o lockdown da Covid-19, porque “a comunidade surda foi excluída da cadeia de comunicação”. Ele teve que esperar que os jornais publicassem as informações mais recentes sobre a pandemia – algo que poderia ter se mostrado mortal nos primeiros meses.
Nas pesquisas de mercado os fundadores descobriram que a comunidade surda prefere por pessoas surdas transmitindo o conteúdo e que essa comunidade passa mais tempo online aos
sábados. Mujjawa e Eroku então adaptaram a programação.
Além dos cofundadores, quatro âncoras de telejornais voluntários, com deficiência auditiva, e dois intérpretes de língua de sinais integram a equipe. O objetivo deles é levantar capital suficiente em um futuro próximo para contratar os voluntários como funcionários em tempo integral.
Os cofundadores sabiam que financiar um projeto que atende a uma comunidade marginalizada seria um desafio. Mas a doação de US$ 20 mil (cerca de R$ 100 mil) em novembro de 2021, do projeto de Futures Media da Escola de Pós-Graduação em Mídia e Comunicação da Universidade Aga Khan, custeou a pesquisa de mercado, um pequeno estúdio e o lançamento do canal no YouTube.
Em 2023, a principal prioridade da TV Signs Uganda é o piloto do YouTube. Por meio dessa implementação em pequena escala, espera testar a expansão da programação para sete dias da semana, avaliar a viabilidade em termos de custo e medir as preferências do público em relação à duração e ao tipo de programação. Um acordo com a Comissão de Comunicações de Uganda, garante a licença necessária para a TV Signs se lançar como uma estação de TV independente.
Parcerias com provedores regionais de TV a cabo para transmitir para toda a região da África Oriental até 2025 estão em andamento. O objetivo final, diz Mujjawa, é que a TV Signs se estabeleça em toda a África e alcance um público mais amplo fora do continente até 2027. n
Ignoradas pelos sistemas financeiros tradicionais, profissionais do sexo do maior distrito asiático de prostituição criaram seu próprio banco. Agora, a instituição está capacitando outros grupos marginalizados.
POR PUJA CHANGOIWALA
ishakha Loskar era adolescente quando deu à luz, no início dos anos 1990. Profissional do sexo em Sonagachi, no leste da Índia, o maior distrito de prostituição da Ásia, Loskar começou a menstruar de forma anormal alguns meses após o parto e não conseguia receber clientes. Sua doença a impedia de ter dinheiro suficiente para comprar leite para o bebê ou remédios para ela. Ela pegou emprestado 5 mil rupias indianas (cerca de US$ 60 ou R$ 300) de um agiota, sem saber que teria de pagar cinco vezes o valor como juros sobre o empréstimo sem garantia
O agiota era sua única opção, diz Loskar. Alguns anos antes de o filho nascer, tentou abrir uma conta bancária, mas não conseguiu. “Como não tinha comprovante de endereço, disseram que não poderiam confiar em mim, que eu poderia ser uma ladra, uma bandida ou uma mendiga”, explica.
A experiência de Loskar não é única. As
profissionais do sexo na Índia normalmente levam uma vida precária sem rede de segurança, de acordo com Meena Seshu, diretora da Sangram, organização sem fins lucrativos que trabalha com profissionais do sexo e outras populações marginalizadas no estado de Maharashtra, no oeste do país. Presas em uma teia cruel de dívidas, exploração e criminalização – sobretudo devido ao estigma social e ao ostracismo –, as profissionais do sexo não têm economias, acesso a empréstimos ou qualquer outro serviço financeiro.
Em 1995, Loskar e 12 outras profissionais do sexo fundaram a USHA Multipurpose Cooperative Society Limited, a maior instituição financeira liderada por profissionais do sexo no sul da Ásia. É, em essência, um banco administrado por profissionais do sexo para profissionais do sexo.
Antes da USHA, a maioria dessas profissionais em Sonagachi era humilhada e lhe eram negados os serviços de instituições financeiras tradicionais. Elas não possuíam
os documentos necessários para abrir contas bancárias. Como viviam em quartos alugados sem contratos ou recibos de aluguel, elas não podiam fornecer comprovante de endereço. Em grande parte sem educação formal e com pouco conhecimento financeiro, as mulheres poderiam perder seu dinheiro para policiais extorsivos, amantes violentos e donas de bordéis desonestas. Algumas investiram em esquemas fraudulentos, que prometiam retornos rápidos, e perderam as economias de uma vida. Em emergências, a maioria recorreu a agiotas, conhecidos como kistiwalas, que cobravam juros mínimos de 300% e abusavam delas se deixassem de pagar. “Muitas profissionais do sexo fugiram de Sonagachi porque não podiam pagar de volta os kistiwalas”, relata Loskar.
A situação era especialmente severa para as meninas das aldeias rurais que migraram para o distrito de prostituição, diz Satabdi Saha, filha de uma profissional do sexo e vice-gerente da cooperativa. “Essas garotas não sabiam contar, e as donas de bordéis e os kistiwalas tiravam vantagem disso.”
A discriminação financeira contra as profissionais do sexo é um fenômeno global que aumenta exponencialmente sua vulnerabilidade à exploração, pobreza e crime, segundo a organização sem fins lucrativos Global Network of Sex Work Projects (NSWP), do Reino Unido. Em um estudo de caso de 2020 sobre a cooperativa, a NSWP observou que a USHA “demonstrou como a inclusão financeira e o reconhecimento da atividade sexual como trabalho empoderam as profissionais do sexo e possibilitam que tenham acesso a melhores serviços de saúde e direitos de cidadania, bem como a condições mais seguras de trabalho”.
A Economia do Sexo
Lançada com 30 mil rupias indianas (cerca de US$ 370 ou R$ 1855), doadas das economias pessoais das 13 fundadoras da USHA, a cooperativa agora administra anualmente transações no valor total de 16,75 milhões de rupias (mais de US$ 2 milhões ou R$ 10 milhões). Sua clientela compreende mais de 36 mil profissionais do sexo de todo

o estado de Bengala Ocidental, no leste da Índia, a quem capacita por meio de contas bancárias gratuitas, empréstimos a juros baixos, planos de poupança e esquemas de trabalho autônomo que oferecem treinamento vocacional, bem como conecta profissionais do sexo com mercados relevantes para suas novas habilidades. Em 2014, o governo de Bengala Ocidental nomeou a USHA como a melhor cooperativa do estado.
A gênese da USHA foi um programa de prevenção contra o HIV implementado pelo cientista de saúde pública Smarajit Jana em 1992. Por meio dele, Jana conheceu várias profissionais do sexo como Loskar, cujos relatos mostravam como a falta de estabilidade econômica também comprometia a capacidade delas de negociar sexo seguro. A diminuição do uso de preservativos significava um risco aumentado de infecções por HIV. Por sugestão de Jana, as mulheres decidiram abrir uma cooperativa em 1993, depois de considerar opções como empresas de seguro de vida e empreendimentos de microcrédito em desenvolvimento.
Registrar a cooperativa, no entanto, foi um desafio, diz Bharati Dey, uma das fundadoras da USHA. “A lei que regia as sociedades cooperativas continha uma cláusula que dizia que os membros de tais sociedades deveriam ter caráter moral”, explica. Como o trabalho sexual era considerado imoral, acrescenta Dey, “os funcionários nos disseram que poderíamos registrar uma cooperativa se disséssemos que éramos donas de casa, mas não queríamos fazer isso”. Após dois anos mobilizando profissionais do sexo e pressionando pela alteração da cláusula de moralidade, a USHA obteve o status de cooperativa.
As pessoas demoraram a aderir, comenta Santanu Chatterjee, que trabalhou como gerente de banco da USHA por mais de duas décadas. Ao final dos primeiros três anos, eram apenas 214 cooperadas. As cofundadoras da USHA conduziram pesquisas de porta em porta em Sonagachi e descobriram que as donas de bordéis e os kistiwalas haviam ameaçado as profissionais do sexo a se posicionarem contra as operações bancárias da USHA, porque temiam perder a clientela para
a nova cooperativa. Eles haviam convencido as mulheres de que o banco era somente mais um esquema fraudulento que roubaria o dinheiro delas. Em 1998, a USHA encontrou uma solução: contratar as filhas das profissionais do sexo como agentes de cobrança, o que impulsionou um aumento substancial das cooperadas.
“As profissionais do sexo podiam confiar nessas garotas, pois elas cresceram na mesma área, diante de seus olhos”, diz Chatterjee. Aos poucos, conforme testemunhavam suas colegas se livrando de dívidas, mais profissionais do sexo buscaram a segurança econômica oferecida pela USHA. Elas podiam depositar apenas 5 rupias por dia com agentes de cobrança que viajavam pelo distrito para coletar dinheiro em suas portas.
Algumas das agentes de cobrança também enfrentaram assédio. Smita Saha, uma agente de cobrança de 45 anos da USHA, diz que as donas de bordéis a insultavam quando visitava esses locais para receber dinheiro das profissionais do sexo. Havia, ainda, os clientes das profissionais do sexo – os homens que as assediavam sexualmente.
Empoderamento Holístico Rita Ray é uma profissional do sexo em Sonagachi desde 2008. Ela logo abriu uma conta na USHA, começou a fazer depósitos diários e pediu dinheiro emprestado a juros de 11% para ajudar a família nas despesas. “Construí uma boa casa para minha família e também comprei terras agrícolas para eles”, diz Ray. “Agora, tenho título de eleitor, apólice de seguro de vida e também seguro de saúde, tudo por meio da USHA.”
Ray ilustra o impacto da USHA nos direitos políticos das profissionais do sexo. Em 2004, e com o trabalho cada vez mais notável da cooperativa de emancipação das profissionais do sexo, o governo de Bengala Ocidental reconheceu legalmente a caderneta emitida pela USHA como documento de identidade válido. Posteriormente, essas mulheres adquiriram título de eleitor por meio dessa caderneta e, em 2006, exerceram o direito de voto pela primeira vez. Hoje, os documentos bancários e de associadas emitidos pela
USHA são aceitos como prova de identidade em Bengala Ocidental. Isso possibilitou que as profissionais do sexo obtivessem documentos que permitissem o cadastro para garantir acesso a outros programas e benefícios administrados pelo governo.
A USHA também organiza treinamento vocacional para profissionais do sexo, que aprendem habilidades de plantio, carpintaria e fabricação de produtos sanitários. Em Sonagachi, elas também são empregadas no programa de marketing social da USHA, onde têm acesso a preservativos a preços subsidiados para organizações que administram iniciativas de intervenção contra o HIV e doenças sexualmente transmissíveis. Além disso, a USHA administra empreendimentos comerciais como de agricultura orgânica e piscicultura – suas principais fontes de lucro, que também atuam como complementação de renda para profissionais do sexo empregadas nesses programas.
Chatterjee conta que a USHA estabeleceu um dormitório e um centro de treinamento esportivo para os filhos das cooperadas. A cooperativa oferece empréstimos para educação a uma taxa de juros reduzida de 10% ao ano – recalculada após cada pagamento – para ajudar os filhos dessas mulheres a prosseguir para o ensino superior.
A USHA também questiona a extorsão e as multas da polícia. Moradores do distrito frequentemente testemunham policiais detendo profissionais do sexo, ameaçando-as de prisão por acusações como serem menores de idade, relata Dey. A intenção dos policiais, explica, é extorquir dinheiro. “Como temos o registro de todas as mulheres, vamos à delegacia, mostramos os documentos e garantimos que as soltem”, diz Dey.
O modelo da USHA contém várias lições para nações do mundo todo. Embora as associadas da cooperativa totalizem impressionantes 36 mil integrantes, a Índia abriga mais de 800 mil profissionais do sexo, a maioria das quais ainda permanece excluída dos serviços financeiros e sociais. Seshu de Sangram, um mentor da National Network of Sex Workers (NNSW), na Índia, diz que, de acordo com uma pesquisa da NNSW
de 2020 com 21 mil profissionais do sexo em seis estados indianos, quase 60% delas não tinham cadastros pelos quais pudessem acessar alimentos em grãos subsidiados por programas governamentais.
Para mulheres como Ray, a USHA foi transformadora. Ela conta que as profissionais do sexo em Sonagachi sempre tiveram que trabalhar, até mesmo em seus ciclos menstruais, mas agora, com dinheiro garantido em contas bancárias, “podemos dizer ‘não’ aos clientes que se comportam mal e podemos dizer ‘não’ às donas dos bordéis que abusam de nós”.
Em 2016, a USHA editou seu estatuto para estender a associação a outros grupos marginalizados de mulheres, incluídas mulheres trans, pescadoras e empregadas domésticas. No entanto, embora esses grupos tenham aproveitado os serviços bancários e os benefícios financeiros da cooperativa, o status social delas permaneceu inalterado. Elas ainda não têm documentos básicos de identidade e podem votar. A USHA agora está lutando, diz Chatterjee, “para garantir que essas mulheres marginalizadas também tenham todos os direitos que as profissionais do sexo da USHA têm”. n
O The Trust Project está estabelecendo padrões, no mundo todo, para o jornalismo de princípios combater a disseminação de desinformação e reconstruir a confiança pública.
POR NOOR NOMAN
declínio da confiança pública na sociedade civil tem alarmado os apoiadores de valores democráticos e de direitos humanos nos últimos anos. Em um discurso em junho de 2022 para a 50ª sessão do Conselho de Direitos Humanos, a Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, disse que uma série de “doenças globais”, como o aumento da desigualdade, criou um terreno fértil para a proliferação de mentiras e de desinformação que contribuíram para a erosão da confiança pública na mídia
Em uma pesquisa de 2021 nos Estados Unidos, o Pew Research Center e o Imagining the Internet Center perguntaram a especialistas da indústria de tecnologia se os espaços digitais serviriam melhor ao público até 2035. A resposta da maioria foi que esses espaços só melhorariam com intervenção deliberada – justamente o objetivo do The Trust Project.
Desde 2014, o The Trust Project tem promovido a transparência no jornalismo, ao
identificar para o público as empresas confiáveis e trabalhar com veículos de notícias para melhorar a qualidade das reportagens. Fundada e dirigida pela premiada jornalista Sally Lehrman, a organização sem fins lucrativos é um consórcio internacional de mais de 100 veículos.
Após o lançamento, o The Trust Project viabilizou grupos de trabalho com os principais editores do mundo para criar um conjunto de padrões de jornalismo rigoroso, ético e transparente com o objetivo de indicar aos leitores até que ponto uma história, meio de comunicação ou jornalista é confiável. Com base em uma combinação de ética jornalística codificada e entrevistas aprofundadas realizadas com o público, os editores criaram oito Indicadores de Confiança: melhores práticas, conhecimento jornalístico, tipo de trabalho, citações e referências, métodos, fontes locais, vozes diversificadas e feedbacks contestáveis. Parceiros de notícias podem usar o logotipo do The Trust Project em seus trabalhos
publicados e sites somente se se comprometerem a aplicar os oito indicadores.
Os Indicadores de Confiança podem ser acessados pelo site do The Trust Project, e cada parceiro de notícias participante tem uma página própria para explicar como aplicou os indicadores no trabalho. Os indicadores associados também possuem sinais legíveis por máquina – um vocabulário correspondente ao schema.org com marcações e tags digitais – incorporados no código da página para que possam ser lidos por terceiros. Os principais mecanismos de pesquisa da internet e mídias sociais como Google, Bing e Facebook podem processar os sinais legíveis por máquina nas páginas dos novos parceiros participantes para avaliar se as notícias são confiáveis e verdadeiras. Por sua vez, esses gigantes da internet se submetem ao The Trust Project como “consultor especialista” em suas próprias iniciativas para favorecer notícias confiáveis e verdadeiras.
A pesquisa mostra que a presença dos Indicadores de Confiança melhora a confiabilidade entre os leitores de uma publicação. Ao avaliar o impacto desses indicadores, o Center for Media Engagement da University of Texas, em Austin, concluiu que “as avaliações das empresas de notícias eram mais altas quando os indicadores estavam presentes”. O mesmo vale para as avaliações dos repórteres que escreveram artigos empregando esses indicadores. A Reach PLC, que publica o Mirror, concluiu a partir de suas próprias pesquisas que a confiança dos leitores aumentou 8% depois que o Mirror incorporou os indicadores.
Das Cinzas Digitais
Em 2012, Lehrman levou os eventos New Media Executive Roundtable (Mesa-Redonda Executiva de Novas Mídias) e Online Credibility Watch (Monitoramento de Credibilidade Online) da Society of Professional Journalists (Sociedade de Jornalistas Profissionais – SPJ) para o Markkula Center for Applied Ethics (Centro Markkula para Ética Aplicada) da Santa Clara University, onde atuou como diretora sênior do programa de jornalismo da universidade.
Posteriormente, criou a Roundtable on
Digital Journalism Ethics (Mesa-Redonda sobre Ética do Jornalismo Digital), depois que ela e os colegas manifestaram uma preocupação crescente ao longo de vários anos com as mudanças que ocorriam no espaço digital. Lehrman observou que, nos anos seguintes, a virada digital impulsionada pelo tráfego da mídia resultou em práticas repulsivas e, às vezes, antiéticas. Lehrman sentiu que essas mudanças estavam transmitindo a mensagem errada ao público “que isso é entretenimento, não é notícia e nós [jornalistas] não nos importamos com o impacto ou conferimos nossos fatos fazendo reportagens que vão ajudar o público a entender o que realmente está acontecendo aqui”, ela diz. “E o que percebi foi que precisávamos fazer mais.”
Ao contrário da era do jornalismo impresso – em que um leitor poderia facilmente diferenciar reportagens de artigos de opinião e anúncios –, o espaço digital com sua uniformidade pode tornar muito difícil distinguir entre histórias legítimas e histórias completamente relatadas e publicitárias.

A crescente preocupação com o comprometimento ético que os meios de comunicação estavam tendo para se ajustar ao novo cenário digital motivou Lehrman, em 2014, a recorrer a especialistas em mídia tecnológica, como o vice-presidente do Google News, Richard Gingras, para saber se algoritmos poderiam ser usados para resolver o problema. Quando lhe disseram que era possível, Lehrman viu uma oportunidade.
Ela conseguiu estimular editores e executivos da mídia precisamente por causa
do consenso prevalecente entre jornalistas comprometidos sobre o declínio da indústria. É importante ressaltar que ela também foi bolsista do John S. Knight Journalism Fellow da Stanford University, o que lhe deu acesso à Knight Foundation e ao fundador do Craigslist, Craig Newmark – ambos foram os primeiros financiadores do The Trust Project. Seus investimentos ajudaram a legitimar o projeto, bem como a criar impulso para captação de recursos.
O Democracy Fund também tem sido um importante financiador e apoiador. Paul Waters, diretor do fundo Digital Democracy Initiative (Iniciativa de Democracia Digital), ficou entusiasmado com o empreendimento de Lehrman assim que soube dele e acredita que é um instrumento para preservar o bem público.
Gestão Global de Projetos
O Trust Project teve que navegar em um cenário de mídia impulsionado pela maximização dos lucros e repleto de polarização política. O diretor de estratégia de audiência da ProPublica, Dan Petty, que anteriormente era um parceiro estratégico do projeto enquanto trabalhava no MediaNews Group, enfatiza o trabalho do projeto “tanto como um imperativo moral quanto para a democracia”. Mas para as empresas de mídia, acrescenta, “também é um imperativo comercial”.
“Falando de uma perspectiva de negócios, se as pessoas não confiam em seu produto, elas não vão se envolver com ele, não vão comprá-lo, não vão fazer uma assinatura, não vão fazer doações”, explica Petty.
O Trust Project também acredita que diversidade, equidade e inclusão (DEI, na sigla em inglês; diversity, equity and inclusion) no jornalismo são essenciais para construir e manter a confiança pública. A pesquisa da Knight Foundation revela que a falta de diversidade nas redações afeta, sem surpresa, a seleção de histórias dos veículos e muitas vezes leva a um viés inconsciente
na forma como as histórias são contadas, o que deixa muitos americanos sentindo como se a mídia não os representasse ou compreendesse sua experiência. “As plataformas não têm um forte histórico sobre como abordar a desigualdade racial, então ver um projeto saindo desse meio social é importante e ajuda a impulsionar muitas outras conversas”, observa Waters. Os valores presentes da DEI geralmente são priorizados apenas quando as redações não são mais velhas e masculinas, descobriu o Pew Research Center, o que significa que as redações que mais precisam de reforma são as mais lentas para adotá-la.
Como o The Trust Project considera expandir seu trabalho e o consórcio, a natureza exaustiva da implementação pode ser uma pressão adicional em redações sobrecarregadas. “O desafio é, operacionalmente, ganhar tempo. Os editores estão ocupados, os redatores estão ocupados, a administração está ocupada”, diz Petty. “Mas reservar um tempo para fazer isso direito é superimportante. Você certamente quer fazer isso direito se sabe que tem uma crise de confiança".
Lehrman diz que um dos grandes desafios a escalonar é a batalha contínua e árdua com o financiamento e a construção de sistemas que sejam robustos e abrangentes o suficiente para apoiar os parceiros de notícias que desejam implementar os Indicadores de Confiança. A dimensão tecnológica disso pode ser especialmente complicada e o projeto está descobrindo como facilitar a adoção e a implementação da tecnologia. Além disso, à medida que o projeto se expande globalmente, também aumenta a necessidade de traduzir seus indicadores para uma linguagem que funcione nesses contextos locais específicos.
Ademais, os indicadores não são estruturas estáticas ou fixas. Em vez disso, exigem reavaliação constante. Embora Lehrman descreva isso como a parte divertida do trabalho, também consome muito tempo e requer interação contínua. “É importante continuarmos a pesquisar, a ter grupos de trabalho, para poder manter e desenvolver os Indicadores de Confiança para que sejam sempre representativos e no patamar certo para o momento”, afirma. n

Ilustração: David Plunkert
a condição de garota negra crescendo numa St. Louis segregada, no estado do Missouri, nos anos 1950 e início de 1960, absorvi a história corrente sobre os Estados Unidos. Ninguém jamais me disse “sente aqui que eu vou lhe explicar”. Não, eu aprendi pela escola, pela televisão e por filmes. Estava no ar. Nem a minha família, nem meus professores ou amigos a refutavam. Era o conto de uma nação talhada por resistência, exploração e aspiração. Uma nação plena de um potencial que poderia ser explorado por meio de determinação individual e esforços corajosos impulsionando a sociedade rumo à igualdade e à justiça.
Há séculos que essa narrativa alimenta aspirações a um futuro melhor, catalisando a imaginação de americanos que travaram batalhas políticas épicas, da abolição da escravatura ao sufrágio feminino, aos direitos civis, direitos dos deficientes e direitos dos LGBTQ. Mas à época em que me formei na Howard University e me tornei ativa no movimento Black Power, no fim dos anos 1960, reconheci que a história dos Estados Unidos era em grande parte um mito – um mito que dependia de enterrar o genocídio dos nativos americanos e a terra roubada dos povos indígenas, a brutalidade da escravidão, a violência racial e a discriminação de pessoas de cor.
Nos últimos tempos, o mito se estilhaçou sob o peso da disparada da desigualdade, da estagnação da mobilidade econômica, da disfunção institucional e da maior conscientização pública da tensa história racial e do racismo sistemático do país. A promessa e premissa central da narrativa – oportunidades para todos – não apenas se mantém não cumprida para as pessoas não brancas, como também se torna amargamente inatingível para uma grande camada da
população branca. Muitas pessoas brancas, além disso, não acreditam que a nação possa proporcionar bons empregos, educação de alta qualidade e segurança econômica para todos sem subtrair as vantagens que veem como seu direito inato. E muitas pessoas não brancas questionam se os Estados Unidos alguma vez vão permitir que todos participem da sociedade de maneira integral e próspera e nela alcancem seu pleno potencial.
É de certa forma animador que esse conto pintado de branco já não seja mais aceito como verdade. Apesar da mudança radical, uma considerável minoria de americanos tem defendido o mito, levando adiante uma história de mágoa e nostalgia branca numa tentativa de recuperar o passado – para, como dizem alguns, “Fazer a América Grande Novamente”. Essas pessoas estão dispostas a sacrificar a democracia no altar da superioridade racial, como ficou dramaticamente evidenciado pela violenta insurreição do Capitólio, com o intuito de revogar a eleição presidencial de 2020. Vemos esse esforço também em leis e políticas que têm por objetivo evitar que pessoas negras, indígenas e racialmente marginalizadas votem e que desafiam a legitimidade de seus votos. E nós o vemos na bem orquestrada campanha para proibir que se ensine a crianças qualquer coisa sobre a história racial da nação – afinal, o que pode ser mais ameaçador para líderes autoritários do que um cidadão instruído e informado?
São ataques não apenas à democracia americana, e sim mais diretamente ao movimento de construção de uma pujante democracia multirracial. O timing dessa reação não é coincidência. Pessoas não brancas serão a maior parte da nação em 2045, e, de acordo com um levantamento de 2019 do Pew Research Center, a maioria dos
Os Estados Unidos precisam de uma nova história – uma história que seja honesta e inspiradora e não se intimide por seu histórico racial – para levar à realização de uma democracia multirracial vibrante.
americanos negros, hispânicos e brancos concorda que a diversidade racial e étnica é “muito boa” para os Estados Unidos. Pessoas de todas as raças, idades e formações inundaram as ruas para pedir justiça racial após o assassinato de George Floyd, em maio de 2020. Isso ajudou a garantir compromissos pioneiros da Casa Branca e de corporações no sentido de fazer avançar a igualdade racial. Em 2020 e 2022, eleitores foram às urnas em números históricos para derrotar candidatos antidemocráticos. Incontáveis ativistas, líderes populares e funcionários públicos redobraram seus esforços para proteger direitos civis, fortalecer comunidades e revitalizar os sistemas e instituições que lesaram e deixaram de atender uma infinidade de pessoas. Coletivamente, esses empenhos refletem um movimento mais amplo, que está em luta contra a retórica racista e as políticas que atropelam direitos civis.
Para chegar a esse ponto de inflexão, os Estados Unidos precisam de uma nova história que energize o movimento, a fim de construir uma democracia sustentável, vibrante e multirracial. A seguir, passarei a descrever os elementos essenciais dessa história, e entre eles o mais crucial está em estabelecer o arcabouço em torno de raça e racismo, sem o qual não podemos nem decifrar as causas profundas dos duradouros e sistemáticos desafios nem desenvolver soluções eficazes e equitativas. Políticos e a mídia de direita têm exaustivamente demonizado discussões sobre raça para evitar um trabalho de reparação e mudanças sociais. E muitos “aliados” brancos se preocupam com que o enfoque em questões étnico-raciais venha a ameaçar sua estratégia de conciliação. No entanto, essa tática silenciadora já não pode ocultar o fato de que sistemas e instituições destinadas a oprimir pessoas negras – economia mal distribuída, grave desinvestimento em escolas públicas, serviços de saúde inadequados e serviços de apoio esvaziados – estão lesando todos os americanos, à exceção dos mais abastados.
Essa nova história deve também dissipar a falácia de que a equidade é um jogo de soma zero e, acima de tudo, deve proporcionar modelos de ação democrática multirracial. Ativistas, organizadores, líderes e diversas coalizões e movimentos estão evidenciando o poder da solidariedade e expondo a mentira de que falar honestamente sobre raça seja algo que divida o país. Falar sobre raça é, na verdade, o único meio de a democracia ser bem-sucedida numa sociedade multirracial. E se ativistas e organizações tiverem sucesso, construir e sustentar uma vibrante democracia multirracial serão a próxima grande inovação dos Estados Unidos.
A abordagem para compreender a história racial dos Estados Unidos é o que eu chamo de paradigma branco-negro: o composto de estruturas econômicas, jurídicas, institucionais, sociais e psicológicas forjadas desde a escravidão que sistematizaram e codificaram a opressão nos Estados Unidos. Como uma lente pela qual se enxerga a história do país, esse paradigma não ignora nem minimiza o sofrimento e a exclusão das demais pessoas. Em vez disso, ilumina a interdependência de todos os povos que vivenciaram violência racial, intolerância e oportunidades limitadas e expõe os vieses e crenças que estão na raiz da opressão. Nos Estados Unidos, os mecanismos que deram forma e perpetuaram o racismo antinegro permearam as opressões de todos os grupos marginalizados.
O paradigma branco-negro se baseia na compreensão de que a história é viva, funcional e está presente em cada aspecto de nossa vida. A história “não se refere meramente, ou mesmo principalmente, ao passado”, observou James Baldwin. “Ao contrário, a grande força da história provém do fato de que a carregamos conosco, de que de muitas maneiras somos inconscientemente controlados por ela e de que ela está literalmente presente em tudo o que fazemos.”
Nos Estados Unidos, a história que carregamos se inicia com o genocídio de povos indígenas – o roubo de terras, remoções forçadas e um contínuo apagamento cultural. Essas ações criaram os contornos de violência racial e roubo – de terra, de trabalho, de vínculos familiares, de tradições sagradas, de arbítrio, de autodeterminação e de liberdade. O tratamento pernicioso de povos indígenas foi a primeira expressão da crença não escrita da nação – e essa crença, não obstante, é predominantemente fundacional –, de que as pessoas não brancas têm menos valor e podem ser mortas, agrilhoadas, exploradas e/ou descartadas para enriquecer aqueles tidos por mais importantes. A violência anti-indígena foi central à criação das estruturas de supremacia branca e o racismo antinegro criou os protocolos de opressão hoje usados para explorar e desumanizar todas as pessoas.
A crença numa hierarquia de valor humano que posicionou no topo as pessoas brancas – especificamente homens brancos e ricos – foi a justificativa para dois séculos e meio de escravidão. Por esse motivo, uma história esmiuçada dos Estados Unidos tem de incluir a inimaginável brutalidade de tal sistema, as contribuições econômicas dos cerca de dez milhões de africanos e afro-americanos mantidos em servidão e as histórias de sua indomável resiliência e contundente inovação. Também tem de incluir a breve promessa de Reconstrução dos Estados Unidos, período que se iniciou após o fim da Guerra de Secessão, em 1865, no qual, pela primeira vez, foram aprovadas políticas com vistas a uma democracia multirracial. E ainda incluir o Compromisso de 1877, acordo que resolveu uma disputada eleição presidencial em parte por dar um fim à Reconstrução, o que abriu as portas à segregação racial de Jim Crow, ao sistema de arrendamento de terras, aos trabalhos forçados e ao terrorismo racial branco. As consequências desse acordo empurraram as pessoas negras de volta para a servidão e conduziram o êxodo negro do sul rural para o norte urbano. Valendo-se do paradigma branco-negro como forma de abordagem, nossa nova história tem de levar em conta a negligência, o desinvestimento e a espoliação de riquezas de pessoas e comunidades negras por meio de políticas como o redlining – prática discriminatória que vetava empréstimos financiados pelo governo a pessoas negras, o que as impedia de adquirir casas próprias – e programas de renovação urbana que destruíam bairros urbanos negros, deslocando e empobrecendo residentes e estabelecimentos. Políticas como essas consolidaram amplas disparidades raciais de receitas e riquezas. Políticas de bem-estar, educação e saúde, incluídas a “guerra às drogas” do presidente Richard Nixon e a Lei Contra o Crime Violento do presidente Bill Clinton em 1994, que intensificaram o corredor escola-prisão para a juventude negra e parda, levaram à destruição de famílias e comunidades não brancas. Todas essas políticas estiveram fundamentadas em falsas imagens e estereótipos e reforçaram a marginalização das
comunidades negras. Com o passar do tempo, essas ações definiram os termos do controle econômico, da exploração, da desigualdade de base geográfica e de políticas sociais ineficazes que impuseram coletivamente os protocolos de opressão.
Esses protocolos reverberam para muito além da comunidade negra. Por exemplo, se os Estados Unidos tivessem enfrentado a devastação das comunidades negras por crack/cocaína nos anos 1990 como um problema de saúde coletiva e investido em apoio social –em detrimento da criminalização da adição, da construção de mais penitenciárias e do encarceramento em massa de pessoas negras –, o país teria se preparado melhor para responder à crise dos opioides que assolou muitas comunidades de baixa renda, além de comunidades brancas. Da mesma forma, se os amplos investimentos de outrora em escolas públicas urbanas não tivessem evaporado em meio ao aumento no número de matrículas de estudantes negros, os sistemas de educação pública não seriam tão ruins como são hoje.
Os protocolos de opressão aos negros produziram a racialização de imigrantes e estabeleceram os contornos de xenofobia que deram forma ao sistema de imigração nos Estados Unidos. Fizeram-se presentes na exclusão legalizada e na subordinação de trabalhadores migrantes da Ásia e da América Latina, ocorridas nos séculos 19 e 20. Hoje eles se materializam nos atuais terrorismo, separação e expulsão de trabalhadores e famílias latinas, que, embora contribuam para a economia e paguem impostos, continuam sem documentos e têm negado um caminho para a cidadania. Tais protocolos também aparecem nas recentes violência e humilhação de famílias latinoamericanas que tentam entrar no país pela fronteira sul.
Além disso, os protocolos de opressão atuam na criminalização e no uso de pseudociência direcionada a pessoas transgênero, não binárias e não conformes de gênero; no ódio e na discriminação dirigidos a muçulmanos; e na violência e culpabilização de americanos asiáticos durante a pandemia de Covid-19. Na verdade, se os Estados Unidos não tivessem sistematicamente ignorado a saúde de americanos negros durante séculos, a Covid-19 não teria sido tão devastadora quanto foi. Essa negligência se traduziu na desarticulação dos sistemas públicos de saúde, tornando-os incapazes de proporcionar os serviços de que o público necessitava e deixando as comunidades negra, latina e nativa americanas mais vulneráveis a índices maiores de adoecimento e morte. Por fim, os referidos protocolos são acionados também quando pessoas marginalizadas se alinham com estruturas opressivas, e as endossam, para ter acesso a poder e a privilégios. Esse impulso para se acomodar ao poder e se manter próximo a ele é hoje evidente – tome-se, por exemplo, o caso do policial negro que imobilizou George Floyd e do policial asiático-americano que impediu espectadores de intervir enquanto um policial branco mantinha o joelho sobre o pescoço de Floyd por mais de nove minutos.
O racismo sistêmico também se revelou nos extraordinários investimentos em comunidades brancas por políticas e programas de governo de larga escala. Em 1956, um ato federal concedeu a subúrbios emergentes, predominantemente brancos, acesso fácil a empregos e comodidades nas grandes cidades, aumentando os atrativos e o valor financeiro de casas e comunidades de subúrbios, enquanto desmontava e deslocava bairros não brancos pela construção de autoestradas. Muitas pessoas brancas se recordam da prosperidade e oportunidade de meados do século 20 sem reconhecer o papel enorme e discriminatório desempenhado pelo governo.
Essa amnésia histórica serve aos interesses das pessoas mais empenhadas em se agarrar ao poder e às estruturas construídas sobre a supremacia branca. Não surpreende que tenham preparado um ataque ao ensino de história às crianças. Suprimir a história racial permite a políticos de direita e a seus simpatizantes insistir na tese de que as persistentes desigualdades são o resultado dos fracassos de pessoas negras, indígenas e racialmente marginalizadas – e não a consequência de discriminação racial passada e presente e da seletiva generosidade de investimentos do governo, que por gerações a fio serviram como alicerce às pessoas brancas. Essa amnésia ofusca o papel essencial de maciços investimentos do governo na criação de oportunidades em larga escala, que hoje se fazem necessárias para a maioria emergente.
Ocultar a história racial também apaga a luta dos negros e o papel que americanos negros desempenharam como defensores da democracia. Obscurece os meios pelos quais as pessoas se uniram em torno de raça, etnicidade, classe e ação coletiva e realizaram mudanças até então impensáveis que tornaram o país mais justo e inclusivo – do sufrágio universal ao fim da segregação legal. O movimento rumo a a uma democracia multirracial sempre incluiu milhões de americanos brancos, que se aliavam a comunidades não brancas e pressionavam por equidade e inclusão. De novo, não é de admirar que movimentos antidemocráticos queiram que os americanos esqueçam, ou que jamais aprendam, que a solidariedade inter-racial tem sido parte essencial do avanço democrático e fonte de poder para grupos marginalizados.
As pessoas não brancas têm as mesmas demandas e desejos que as ondas de imigrantes da Europa ao longo dos séculos e que a classe operária branca de hoje: bairros seguros, salários que sustentem uma família, educação de alta qualidade e moradia decente e acessível. Somente mediante o aprendizado e a aceitação da complexidade da história racial dos Estados Unidos podemos criar uma sociedade que sirva às necessidades de todos.
Existe uma arraigada suspeita na sociedade de que apoiar um grupo prejudica outro. Enraizada em falsas ideias de escassez, essa lógica de soma zero está incorporada a nosso sistema econômico, mas, além disso, tem sido socialmente condicionada dentro de nós. Na verdade, quando a nação mira o apoio onde ele mais se faz necessário – quando nossas políticas e investimentos criam as circunstâncias que possibilitam que as pessoas deixadas para trás participem e contribuam plenamente –, toda a sociedade se beneficia.
Escrevi a esse respeito pela primeira vez em “The Curb-Cut Effect” (“O efeito guia rebaixada”, em tradução livre), que mostrou de que modo leis e programas destinados a beneficiar grupos vulneráveis – como guias rebaixadas para ajudar cadeirantes – frequentemente beneficiam a todos. O exemplo deixa claro os amplos benefícios sociais que afluem quando políticas e investimentos se expandem para além da lógica de soma zero e usam a equidade para direcionar esforços de mudança social e política.
A equidade tem sido adotada por instituições públicas, privadas, cívicas, sociais e empresariais. Ao reconhecer sua importância fundamental para o futuro da nação, a primeira ordem executiva de Joe Biden como presidente fez da equidade racial uma responsabilidade do governo federal como um todo.
O setor privado também tem mostrado um empenho redobrado visando à equidade. Embora as Empresas B continuem a ser uma parcela pequena desse setor, elas trazem novos modelos para estruturas econômicas empresariais que servem a interesses de acionistas para além dos estreitos fins lucrativos. Por exemplo, a fabricante de comida congelada Rhino Foods desenvolveu um programa de renda antecipada com empréstimos de emergência para o mesmo dia que se transformam em contas de poupança para funcionários. A fabricante de telhas Fireclay Tile criou um modelo de participação dos trabalhadores a fim de democratizar a propriedade e distribuir a riqueza de forma mais equitativa dentro da empresa.
Também empresas globais estão ficando em dia com a equidade – não apenas com afirmações sociais performativas ou com esforços filantrópicos, mas com investimentos necessários em seu futuro financeiro. Grandes bancos têm uma longa história de exclusão e exploração racial, desde o uso de mapas que, exercendo o redlining, eram elaborados pelo governo federal nos anos 1930, às recentes acusações de que a Wells Fargo usava algoritmos racistas oriundos de práticas de empréstimo do passado, com isso rejeitando mais da metade dos pedidos de refinanciamento de hipoteca submetidos por mutuários negros em 2020. Contudo, alguns grandes bancos começaram a compreender como deslocamentos demográficos poderão impactar seu futuro econômico. Afinal de contas, são as pessoas não brancas que vão fomentar o impulso para comprar casas, abrir empresas e mandar os filhos para a universidade. Por exemplo, para ajudar a promover o crescimento econômico, o J.P. Morgan Chase se comprometeu a investir US$ 30 bilhões em comunidades negras e latinas até o fim de 2025, e o Bank of America, US$ 1,25 bilhão. O Citibank não apenas se comprometeu com US$ 1 bilhão, como também foi o primeiro banco de Wall Street a aceitar uma auditoria racial de suas práticas de investimento. Gradativamente as grandes corporações estão percebendo que não terão futuro financeiro se não começarem a proporcionar oportunidades financeiras equitativas para aqueles que já foram por elas sistematicamente discriminados. A equidade conduz políticas e intervenções de volta para o que realmente importa – as pessoas. O refrão demasiado comum que identifica os governos como sendo o problema ignora a frequência com que grandes ações governamentais são a solução para desafios sociais de grande porte. Quando a pandemia forçou milhões de americanos a parar de trabalhar e ameaçou a economia, o governo federal acertou o passo e, pela primeira vez em gerações, fez elevados investimentos e agiu tendo como alvo as pessoas que mais estavam sofrendo: os 140 milhões de americanos pobres ou de baixa renda, que incluem mais da metade de todos os jovens com menos de 18 anos, 42% dos idosos, 59% de nativos, 60% de negros, 64% de latinos e um terço de todas as pessoas brancas.
Os seis projetos de lei relacionados à Covid-19 aprovados em 2020 e 2021 proporcionaram um valor estimado em US$ 5,1 trilhões em financiamentos de assistência, que ajudaram a reforçar a demanda do consumidor e reduziram a taxa de desemprego em quase 12 pontos percentuais a contar de seu pico de 14,8% em 2020, garantindo que a recessão relacionada à pandemia fosse a mais breve já registrada. A expansão do crédito tributário para dependentes menores de idade, que foi parte do Plano de Resgate Americano, de 2021, preencheu uma lacuna que impedia que uma maioria de crianças negras e latinas se beneficiasse do crédito fiscal e reduziu a pobreza infantil em
30% nos seis primeiros meses de sua implementação. Segundo projeção do Center on Poverty and Social Policy (Centro para Pobreza e Política Social) da Columbia University, se o pacote de expansões tivesse sido mantido durante todo o ano de 2021, a pobreza infantil teria sido cortada mais da metade, reduzindo as taxas de pobreza em 55% para as crianças negras e em 53% para as latinas.
Décadas de pesquisa demonstram que pessoas, famílias e comunidades se fortalecem quando dispõem de segurança econômica básica. Estudos recentes revelaram que quando programas põem dinheiro diretamente nas mãos de pessoas que vivem na pobreza, elas o gastam de forma a estimular a economia. O estudo do Center for Guaranteed Income Research (Centro de Pesquisa de Renda Garantida) sobre o programa de renda garantida do Stockton Economic Empowerment Demonstration (Demonstrativo de Capacitação Econômica Stockton – SEED, na sigla em inglês) verificou que a maior parte das compras dos participantes se destinou a satisfazer necessidades básicas. As três principais categorias de gastos foram alimentação (37%), artigos para o lar (23%) e serviços (11%). Os pesquisadores constataram que o auxílio mensal ajudava a contribuir com o emprego em período integral e que os beneficiários do SEED apresentaram melhoria em seu bem-estar, menores níveis de ansiedade e depressão.
Em que pese a incorporação da equidade, estamos vivendo uma das eras mais desiguais da economia americana. A desigualdade em nossas estruturas econômicas criou intensa concentração de riqueza privada, o que ameaça a segurança econômica de longo prazo da nação. Uma história nova deve deixar claro que uma democracia multirracial não pode florescer sem uma economia justa. À medida que as pessoas não brancas conquistam mais influência política e econômica, podemos esperar mais movimentos públicos e privados em direção à equidade econômica. Também isso se provará benéfico para a sociedade como um todo.
Em última instância, a força galvanizadora de uma nova história nacional residirá em sua visão do futuro. É a parte mais fácil da história a contar, já que basta uma passada de olhos pelos movimentos dinâmicos que conduzem à equidade e pelos seus líderes para vislumbrar uma verdadeira democracia racial. Eles reconhecem que nossas liberdades fundamentais se tornam mais fortes quando nossas instituições são responsáveis por todos – que quando todas as pessoas são servidas por nossas instituições democráticas, todas participam do ato de protegê-las. Coletivamente, esses movimentos têm o potencial de mostrar que um governo do povo, pelo povo e para o povo pode produzir resultados extraordinários, equitativos, mas somente se todas as pessoas realmente tiverem voz. Coalizões multirraciais estão trabalhando para remover barreiras que bloqueiam a oportunidade e a participação de milhões de pessoas. Elas praticam a solidariedade transformadora – abraçando problemas e campanhas umas das outras como algo essencial para a realização de uma sociedade justa. Líderes que tenham foco na equidade são os herdeiros do que há de melhor nos ideais dos Estados Unidos. Eles têm a fantasia radical de conceber uma nação unida não por raça, religião, etnia ou pátria ancestral, mas por ideais compartilhados de liberdade, igualdade e pela busca de felicidade para todos.
Esses defensores de um futuro justo e equitativo estão traduzindo as possibilidades e os perigos monumentais deste momento em poder político, inovação política, transformação econômica e mudança cultural. Eles sabem que os fundadores da democracia americana jamais pretenderam incluir pessoas como eles na governança representativa. Não obstante, tais fundadores articularam as grandes ideias de nossa democracia, que, se aplicadas de maneira fidedigna a todas as pessoas, criam a possibilidade de incríveis mudanças. Desse modo, os fundadores foram além de suas próprias expectativas. Hoje, líderes racialmente diversos trazem um alento de vida e justiça a princípios que até então eram palavras ocas. A generosidade de sua visão está impelindo a nação a concretizar os ideais que, tendo sido consagrados em seus documentos fundacionais básicos, ainda estão por ser realizados.
A liderança de hoje carrega consigo o legado de gerações anteriores que lutaram para fazer o país chegar mais perto de realizar seus ideais. O movimento pelos direitos civis demonstrou o poder catalisador e moral dos protestos de massa. Criou um modelo para organizações e alianças multirraciais e multirreligiosas. Líderes de direitos civis como Fannie Lou Hamer e Bayard Rustin destacaram a necessidade de fazer um uso pleno das forças de todos. Pessoas brancas comprometidas com justiça racial juntaram-se ao movimento, por vezes sacrificando a própria vida. Algo de importância crucial, o movimento pelos direitos civis ressaltou o papel central das lideranças negras numa luta, autêntica e de base ampla, por justiça, inclusão, liberdade e autodeterminação. Segundo observou Danielle Allen, teórica política de Harvard, existe uma vertente profunda de pensamento na tradição afro-americana e na filosofia política sobre o sentido e o valor da liberdade. Os que foram privados de liberdade compreendem sua essência e significado com clareza cristalina.
Embora as lideranças pelos direitos civis corajosamente tenham exigido que a nação de maioria branca deixasse os negros entrarem em seus sistemas e instituições, hoje em dia os líderes com foco na equidade proclamam a nação e seu futuro como se fossem os seus próprios. Em vez de se concentrar exclusivamente em mais direitos e proteções legais – que muitas vezes não alteram de maneira substancial as estruturas de poder existentes – e em vez de buscar inclusão e um tratamento mais justo por instituições que foram construídas com base na opressão racial, os líderes atuais reivindicam a propriedade sobre a construção da próxima renovação da nação. Muitos deles têm feito mais do que apenas protestar – por mais importante que seja –, a fim de conseguir poder e exercer a propriedade sobre todos os domínios da vida pública. Estão traduzindo a energia dos movimentos em organizações capazes de representar a longevidade e o poder do trabalho, bem como de sustentar ações de longo prazo com vistas a construir uma democracia multirracial robusta.
Um exemplo claro está na extraordinária ação coletiva e engajamento político da geração Z. Após o massacre na Parkland High School, jovens ativistas criaram a March for Our Lives (Marcha por Nossas Vidas), que luta pela legislação de armas. Seu diretor organizacional, Maxwell Frost, acaba de se tornar o primeiro membro dessa geração a ser eleito para o Congresso. Dela saiu também o Sunrise Movement (Movimento Nascer do Sol), uma organização de ação política nacional diretamente engajada na defesa de políticas para justiça climática. Ao reconhecer o grande número de organizações que disseminam desinformações perigosas aos jovens, o imigrante
mexicano Santiago Mayer, um imigrante mexicano, criou a organização pró-democracia Voters for Tomorrow (Eleitores do Amanhã), que auxilia jovens a se tornar civicamente engajados. Allie Young, da geração Z e da nação Diné, fundou a Protect the Sacred (Proteja o Sagrado), associação que reúne e organiza a próxima geração de líderes indígenas e que ajudou o presidente Biden a garantir a vitória de 2020 no Arizona, onde o aumento na participação de nativos americanos foi maior que a diferença de votos que Biden teve no estado.
Outro exemplo vem do trabalho de movimentos que visam aumentar o engajamento político e a participação de eleitores entre comunidades negras e outras comunidades historicamente marginalizadas do sul do país. Por exemplo, o New Georgia Project e sua ex-diretora executiva, Nsé Ufot, sabem que nunca foi tão necessário engajar eleitores com uma visão positiva de um futuro multirracial e convencer eleitores não brancos, em especial negros, de que seu voto faz a diferença. Desse modo, o grupo está organizando as crescentes comunidades não brancas da Geórgia com a meta de construir uma nova maioria eleitoral no estado, que atenda a todos os seus residentes. Numa região em que tem sido excepcionalmente difícil votar, Ufot e seus colegas têm se utilizado de tecnologia para superar entraves ao sufrágio, têm treinado organizadores locais que vêm registrando centenas de milhares de eleitores e construído uma coalização multirracial que obteve históricos e decisivos comparecimentos às urnas em 2020, 2021 e 2022.
Uma democracia multirracial vibrante depende de uma economia equitativa. Grupos diversos estão organizando trabalhadores, mobilizando eleitores e demandando mudanças políticas para melhorar as condições de emprego e a segurança econômica de milhões de prestadores de serviço e profissionais da saúde que recebem baixos salários. O grupo Fight for $15, por exemplo, deliberadamente montou um movimento interracial e conquistou aumentos de salário mínimo para mais de 26 milhões de pessoas, lutando para reverter a tendência de quase cinco décadas de salários estagnados para os trabalhadores menos bem pagos, independentemente de raça.
O trabalho com vistas a uma economia equitativa por parte das organizações de movimentos sociais é reforçado por intensa pesquisa e apoio acadêmico. Felicia Wong, CEO do Roosevelt Institute, analisou os fracassos do neoliberalismo, desafiando os progressistas do “livre mercado”. Ela apontou as contradições inerentes à ideologia que professa a valorização da justiça, da inclusão e do bem comum e ao mesmo tempo santifica o capitalismo desenfreado, que afunilou enorme riqueza no topo, enquanto esvazia a classe média e destina um terço da população dos Estados Unidos a viver na pobreza. O trabalho de Wong faz uma importante crítica intelectual às políticas neoliberais contemporâneas e lança ideias fundamentais para a construção de uma economia a serviço de todos.
Darrick Hamilton, professor de economia e políticas urbanas e diretor fundador do New School’s Institute on Race, Power and Political Economy, realiza uma extraordinária pesquisa em apoio à implementação dos Baby Bonds (“títulos para bebês”), uma ferramenta política inovadora que cria contas de investimento de financiamento público para crianças. Também está empenhado em reestruturar a política industrial, geralmente voltada aos interesses das empresas, para que volte o foco nos trabalhadores – reconhecendo que, quando todos compartilham da prosperidade econômica, a economia como um todo se torna mais forte e mais estável.
Esses líderes, entre um sem-número de outros, estão criando modelos de ação coletiva. Nick Tilsen, presidente da NDN Collective e CEO e cidadão da nação indígena Oglala Lakota, mostra como construir poder coletivo e soluções locais de grande escala que promovam a resiliência climática e a moradia sustentável – problemas que atormentam comunidades de baixa renda, indígenas e tribais – em todo o país.
Monica Simpson e o SisterSong Women of Color Reproductive Justice Collective (Coletivo de Justiça Reprodutiva de Mulheres Não Brancas SisterSong) foram pioneiros no movimento de justiça reprodutiva, ao expandir os direitos de reprodução para além do aborto, a fim de abarcar as condições sociais e econômicas que afetam o acesso aos serviços de saúde reprodutiva das pessoas e as opções de escolhas com relação a esses serviços, incluída a capacidade de educar os filhos em ambientes seguros e estáveis.
A diretora-executiva da For Freedoms, Claudia Peña, nos mostra que os artistas desempenham papel crucial em garantir nosso futuro democrático na condição dos que dizem a verdade, dos que curam e atuam como forças criativas a abrir corações e imaginários para o que é possível.
A reverenda doutora Liz Theoharis, que trabalha com o reverendo doutor William J. Barber II na condição de copresidente da Poor People’s Campaign (Campanha das Pessoas Pobres), mostra como deve ser a cara da solidariedade e lembra à nação que a luta para se criar uma democracia multirracial pujante não é a luta desse ou daquele grupo ou de um partido político. É uma luta sobre o certo e o errado.
Por fim, líderes com foco na equidade estão pressionando o governo para que ele se valha dos ideais fundadores da nação, alinhando a máquina do governo aos objetivos de uma democracia
BRASIL
O FUTURO DA DEMOCRACIA
multirracial com o intuito de garantir que os ganhos obtidos agora não tenham de ser conquistados novamente. Como afirmou o presidente e CEO do PolicyLink, Michael McAfee, tornar o governo receptivo e responsável por tudo, particularmente por aqueles que têm sido oprimidos e marginalizados, exige mais do que financiamentos e reuniões sobre diversidade. Exige uma agenda de governo expressamente comprometida com a equidade racial, com objetivos claros, parâmetros mensuráveis e resultados transparentes. McAfee, em parceria com Glenn Harris, presidente da Race Forward, participou da criação do primeiro plano de equidade racial abrangente para órgãos federais do país, com recursos e instrumental que estão ajudando líderes de agências a implementar a ordem executiva do presidente Biden sobre equidade racial. McAfee tem atuado também com líderes empresariais no sentido de incorporar princípios de equidade em suas empresas, mediante mecanismos de responsabilização.
Esses líderes, entre muitos outros, estão reescrevendo a história americana.
Os Estados Unidos ainda haverão de testemunhar uma democracia robusta, justa, vibrante, que funcione de maneira equitativa em meio a profundas diferenças. Essa ânsia não é nada nova. Em 1869, Frederick Douglass resumiu sua visão para a nova democracia multirracial que parecia emergir após a Guerra Civil. “Nossa população multifacetada conspira para um grande fim”, disse ele, “e este fim é o de fazer de nós [os Estados Unidos da América] a mais perfeita ilustração nacional da dignidade da família humana que o mundo já viu.”
Mais uma vez, esta oportunidade está batendo à nossa porta. n
Para ter uma sociedade mais igualitária, na qual todas as pessoas possam se ver e se sentir parte de um sistema de educação que considere as contribuições civilizatórias de cada grupo que compõe a sua história, a construção de uma educação antirracista é necessária, urgente e estratégica.
Desde crianças somos levados a crer que o Brasil seria uma democracia racial. Dessa forma o país com a maior população negra fora do continente africano e com uma das maiores populações de descendentes de portugueses, italianos, espanhóis, japoneses, libaneses, entre outros, teria algo de único e original a exportar para o mundo: uma sociedade sem racismo.
Ainda que na década de 1950, intelectuais brasileiros tenham se juntado ao coro do movimento negro, denunciando a democracia racial no Brasil como mito, esta ideia permaneceu viva por gerações, buscando apagar a história de resistência negra ao escravismo e contribuindo para o silenciamento sobre o racismo na sociedade.
Como filho de ativistas do movimento negro, nascido nos anos 1980, fiz parte da minoria das crianças negras que conheceram a história de seus antepassados e que conversaram sobre racismo com familiares e amigos cotidianamente, até mesmo como forma de sobrevivência a seus efeitos. Por isso, entendo bem a importância de retirar esta temática do tabu, o que vem ocorrendo com um debate a cada dia mais franco e significativo, sobretudo nas últimas duas décadas.

Além da minha formação política no movimento negro, começando pela minha própria família, tive contato com movimentos de juventude negra que pautavam essa temática de forma ampla, enriquecendo meu repertório para tentar compreender um país tão desigual e contraditório, considerando a narrativa oficial de democracia racial por diversas instituições públicas.
Uma das minhas epifanias nesse percurso para melhor compreender o país é referente ao fato de que brasileiro é nome de profissão. Afinal é esse o papel, em geral, do sufixo “eiro” na língua portuguesa: carpinteiro, marceneiro, pedreiro. Em breve pesquisa, cheguei a uma explicação de que “brasileiro” foi termo pejorativo por muitos anos, já que remete à ocupação de quem extraía a árvore do pau-brasil, desempenhada por criminosos, mandados ao Brasil pela Coroa Portuguesa, durante nosso período colonial.
Nesse sentido, o vocábulo simboliza um projeto de exploração, e não de construção de uma sociedade, um país, interagindo com quem já se encontrava em solo sul-americano. Feita a digressão, não surpreende, portanto, que as marcas deste modelo de desenvolvimento, alicerçado no colonialismo e no escravismo, ainda estejam tão presentes nas mentes e corações de muitos, como os que se opõem a ações afirmativas visando à equidade racial, como programas de trainee de empresas focados em jovens negros, a exemplo do que foi lançado pelo Magazine Luiza, em 2020. Esta visão nos impede de construir um projeto de sociedade efetivamente coesa, fundamentada em sua diversidade humana, riqueza que deveria ser valorizada, já que é rara no mundo.
Em um país cuja matriz de desigualdades se inicia pelo racismo que a um só tempo expropria o trabalho e causa genocídios de pessoas negras e indígenas, naturaliza-se paisagem social em que estes grupos sejam vistos como destinados à exclusão, o que impacta principalmente sua juventude que experimenta taxas extremamente altas de morte violenta.
A título de comparação, vale lembrar que enquanto os Estados Unidos promoviam, ainda que temporariamente, direitos civis para a população negra, bem como medidas de indenização e integração, durante o período conhecido como Reconstruction, após finalizada a Guerra da Secessão (1865), no Brasil editava-se a Lei do Ventre Livre (1871).
Seu artigo 1º libertava os filhos das mulheres escravizadas, mas os colocava sob custódia do senhor de escravos, o qual deveria receber uma indenização do Estado, quando a criança completasse 8 anos, ou poderia exigir compensação da própria criança, com seu trabalho forçado até os 21 anos, em clara medida de institucionalização do trabalho infantil, não por acaso ainda hoje muito maior entre crianças negras.
Nesse mesmo período, intensificava-se no Brasil o imigrantismo europeu como alternativa para ocupação dos crescentes postos de trabalho assalariado. A população negra, cujo trabalho foi considerado qualificado por séculos para atividades variadas e complexas durante o escravismo, ironicamente passa a ser considerada mão de obra não qualificada para a nova era, a partir da abolição formal da escravatura, o que a relegou ao desemprego em massa e, consequentemente, ao trabalho informal de forma sistêmica no país, sem qualquer proteção social.
No entanto, mesmo com a eloquência dos números de relatórios atuais sobre desigualdades raciais no trabalho, há quem insista em tentar contradizer os efeitos do racismo. Nada surpreendente em um momento histórico em que narrativas podem valer mais do que fatos, cujo sintoma mais conhecido é a pandemia de fake news que vivenciamos.
Assim, infelizmente, é com estarrecedora normalidade (este é o velho normal no Brasil) que encaro os levantes reacionários da branquitude contra políticas de equidade racial e programas de ações afirmativas em instituições, a exemplo de universidades e empresas, dando cumprimento a disposições do Estatuto da Igualdade Racial e de tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, como a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de
O racismo como lente que impossibilita que um ser humano veja o outro como igual é o empecilho mais relevante para a construção de uma democracia a partir do valor da equidade.
Discriminação Racial, a Convenção Interamericana Contra o Racismo, a Convenção 111 da OIT e, principalmente, nossa Constituição Federal, cujo artigo 170, inciso VII, prevê, entre outros princípios que devem reger a ordem econômica, a redução das desigualdades sociais, que, no caso brasileiro, não pode ser concebida sem programas que combatam o racismo, de forma sistêmica, e promovam a equidade.
Nos anos 2000, tive o privilégio de estabelecer trocas de saberes e perspectivas com ativistas e intelectuais dos Estados Unidos, como a professora Kimberlé Crenshaw, que esteve no Brasil em 2007 apontando para a existência de uma encruzilhada entre as histórias de relações raciais dos dois países: os Estados Unidos dos anos 2000, com a ascensão da noção de colorblindness e do mito de pós-racialidade, se pareciam muito com o Brasil da década de 1960, que tinha no mito da democracia racial um forte obstáculo para o enfrentamento do racismo. Já o Brasil dos anos 2000 se parecia muito com os Estados Unidos dos anos 1960, com o crescente número de programas de ações afirmativas nas universidades e em outras esferas.
Dessa forma era necessário que os movimentos antirracistas de cada país aprendessem uns com os outros. Até porque os movimentos racistas e supremacistas brancos de ambos os países sempre fizeram seu próprio intercâmbio de informações buscando o aperfeiçoamento de mecanismos de manutenção de privilégios.
É nesse mesmo período que o Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades (CEERT), organização da qual sou hoje um dos diretores, passou a realizar as primeiras experiências de auditoria racial no Brasil (e provavelmente no mundo) em empresas privadas, a partir do aprimoramento de metodologia própria de censo em instituições, com vistas à elaboração de diagnósticos para a promoção de equidade racial. A tecnologia social foi desenvolvida ainda na segunda metade da década de 1990, com base nos estudos de Cida Bento sobre branquitude e racismo institucional.
Atualmente, realizamos auditorias raciais e censos em diversas empresas e outras instituições com o objetivo de produzir diagnósticos e engendrar políticas e práticas para torná-las mais equânimes, a partir da promoção do antirracismo na cultura organizacional, considerando a dinâmica entre diferentes sistemas de opressão: o racismo, sexismo, LGBTQIAP+fobia, capacitismo, etarismo, entre outros, como preconizam estudos de intelectuais negras e negros brasileiros e da Teoria Racial Crítica nos Estados Unidos, sobretudo Kimberlé Crenshaw, com o conceito de interseccionalidade.
A relevância do trabalho e da justiça econômica envolvendo instituições públicas e privadas para a construção de uma sociedade mais equânime remete à educação como caminho para o aprendizado das instituições sobre democracia, sobre equidade como pilar fundamental para pensarmos bens materiais e imateriais de uma sociedade com bens públicos e comuns que não podem ser apropriados por determinados grupos. Portanto, pensar uma educação antirracista é parte inexorável do processo de construção de uma sociedade para todas as pessoas, verdadeiramente democrática.
Mas o que seria educação antirracista? Quais seus fundamentos, seus principais aspectos? As respostas a estas perguntas podem variar segundo diferentes perspectivas, dando mais ou menos peso a cada elemento que constitui uma noção de educação centrada no antirracismo.
O pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho foram estabelecidos pela Constituição Federal como finalidades da educação, reproduzidas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A sequência destas finalidades revela primazia ao pleno desenvolvimento da pessoa porque, antes de exercitarmos os direitos à cidadania e ao trabalho, temos nosso pleno desenvolvimento assegurado pelo princípio da dignidade humana, fundamento de todo o ordenamento jurídico. O racismo está no lado oposto do que se considera “pessoa”, e dignidade humana remete à desumanização.
Dessa forma, a busca pela equidade racial pode começar na educação básica, traduzindo-se na concepção de que todas as pessoas são iguais em dignidade, mas vai atravessar todas as formas de socialização e relacionamento entre coletivos e instituições e tem valor estruturante para a sociedade.
Há muito ouvimos de especialistas e pessoas à frente da gestão pública algo que de tão batido se tornou quase mantra: a saída é pela educação. Se pensarmos em educação de forma ampliada, em que a sociedade tem que ser educada para funcionar para todos, sim o caminho é pela educação. E não podemos simplificar ou reduzir os desafios de uma educação democrática à universalização da educação básica.
Embora as vivências na escola sejam fundamentais para o pleno desenvolvimento da pessoa, é preciso nos perguntarmos em que sociedade está inserida a escola de que estamos falando. Em outras palavras, não é qualquer concepção de educação que pode contribuir para equacionar os desafios sociais que enfrentamos. Uma educação que reproduz o racismo não só deseduca, como também busca desumanizar mais da metade da população brasileira. Além disso, dá à outra parte da população a falsa noção de que seria superior em função da branquitude.
Portanto, a construção de uma educação antirracista é necessária, urgente e estratégica para uma sociedade mais igualitária, na qual todas as pessoas possam se ver e se sentir parte de um sistema de educação que considere as contribuições civilizatórias de cada grupo que compõe a sua história.
Somente assim poderíamos dar passos mais concretos no sentido da construção de uma democracia multirracial no Brasil, algo ainda muito distante da realidade de um país marcado pelo escravismo, autoritarismo e pelo racismo como sistema de opressão que hierarquiza pessoas de acordo com seu pertencimento étnico-racial.
Nesse sentido, o racismo como lente que impossibilita que um ser humano veja o outro como igual é o empecilho mais relevante para a construção de uma democracia a partir do valor da equidade, luta esta que não deve ser só de pessoas negras, mas igualmente das pessoas brancas antirracistas que pretendem nela viver.
É possível concluir que nossa chance de construção de uma verdadeira democracia com base na equidade é diretamente proporcional à nossa capacidade de eliminar o racismo sistêmico da sociedade brasileira. Trata-se de objetivo com contornos utópicos e talvez aí resida sua importância: nos manter caminhando de forma consistente, pois se é imenso o desafio, ele não é maior que a recompensa à frente n
FUTURO DA DEMOCRACIA




O Campo Emergente da Inovação Política Por Johanna Mair, Josefa Kindt Sébastien Mena

































sociedade civil tem se dedicado solucionar problemas sociais há décadas, enquanto deliberadamente se abstém de um engajamento aberto com a política. Mas um novo campo de prática busca revigorar a democracia emancipando inovação social desse con namento.

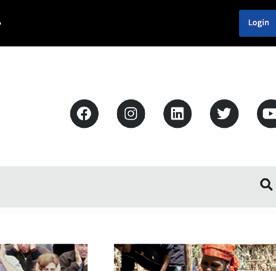

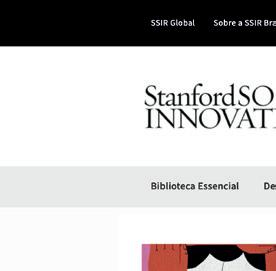
E








jovem organização não lucrativa alemã JoinPolitics preparava seu primeiro grupo de cidadãos motivados para entrar na treinamento numa série de habilidades, como conduzir uma campanha, além do acesso uma extensa rede de políticos, empreagências de governo para recrutar pessoal grupos minoritários. soluções por eles desenvolvidas atendem uma gama de proble-








tos provenientes de um espectro de partidos políticos, bem como aqueles sem filiação partidária, mas não envolve com partidos
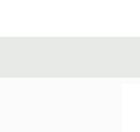
percepção de que “as grandes questões do nosso tempo, sejam elas desigualdades sociais ou mudanças climáticas”, afirma, “terão ser mas sem priorizar mudanças no sistema político. Tradicionalmente, prática inovação social tem estancado as portas dos sistemas











ameaças aos princípios democráticos de justiça, igualdade, representação participação cívica na Alemanha.
conversamos com profissionais da administração pública, das empresas, da academia, da sociedade civil organizada da política.


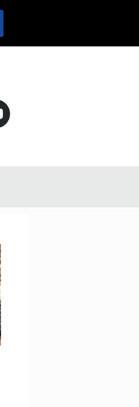
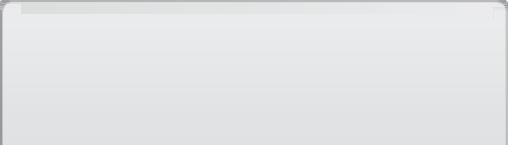

Ilustração: David Plunkert
A sociedade civil tem se dedicado a solucionar problemas sociais há décadas, enquanto deliberadamente se abstém de um engajamento aberto com a política. Mas um novo campo de prática busca revigorar a democracia emancipando a inovação social desse confinamento.
m 2020, em meio a uma pandemia global e a uma onda de protestos antirracistas inspirados pelo movimento Black Lives Matter (Vidas Negras Importam), a jovem organização não lucrativa alemã JoinPolitics preparava o seu primeiro grupo de cidadãos motivados para entrar na política. A organização segue um típico modelo de empreendimento social por meio do qual ela reconhece, seleciona e apoia talentos políticos com ideias inovadoras para fortalecer a democracia em diferentes regiões e níveis de governo. O grupo selecionado passa por um programa de seis meses de tutoria que inclui financiamento e treinamento numa série de habilidades, como a de conduzir uma campanha, além do acesso a uma extensa rede de políticos, empreendedores, organizações e fundações da sociedade civil.
Os participantes do programa podem explorar suas ideias, como, por exemplo, elaborar um projeto de lei para fortalecer pessoas apátridas, estabelecer um grupo de pressão para representar os interesses de uma comunidade sub-representada ou recorrer a agências de governo para recrutar pessoal de grupos minoritários. As soluções por eles desenvolvidas atendem a uma gama de problemas sociopolíticos que tem deixado a democracia alemã vulnerável à deterioração, incluindo a crescente polarização política, o populismo de extrema direita, a injustiça social e a desigualdade, para não falar dos processos e estruturas estagnados. A JoinPolitics é explicitamente pró-democrática, porém apartidária. Ela apoia talentos provenientes de um espectro de partidos políticos, bem como aqueles sem filiação partidária, mas não se envolve com partidos não democráticos ou antidemocráticos.
Caroline Weinmann fundou a JoinPolitics em 2019, após trabalhar numa fundação alemã que trata de desafios sociais. Sua transição de financiadora a empreendedora social foi provocada pela percepção de que “as grandes questões do nosso tempo, sejam elas desigualdades sociais ou mudanças climáticas”, afirma, “terão de ser resolvidas num nível político”.
Para Weinmann, como para outros, a inovação social tem de entrar na política para destravar o seu pleno potencial. A JoinPolitics parte de uma prática convencional de inovação social, que reconhece o papel da política na criação de um ambiente favorável para o setor, mas sem priorizar mudanças no sistema político. Tradicionalmente, a prática de inovação social tem estancado as portas dos sistemas políticos. A JoinPolitics, pelo contrário, promove inovação para corrigir ou reconfigurar elementos no sistema político, efetivamente libertando a inovação social da narrativa dominante que a divorciou do reino político. O foco das organizações sem fins lucrativos e de seus talentos políticos está em encontrar soluções para fazer frente a ameaças aos princípios democráticos de justiça, igualdade, representação e participação cívica na Alemanha.
Ao pesquisar esse engajamento político não convencional em seis continentes, descobrimos a onipresença das ameaças à democracia e das preocupações com a desestabilização que pautam empreendimentos como a JoinPolitics. Como especialistas em organizações, analisamos relatos que documentam o estado da democracia e conversamos com profissionais da administração pública, das empresas, da academia, da sociedade civil organizada e da política. No ano passado, entrevistamos mais de 50 especialistas e agentes
envolvidos num amplo escopo de atividades como as das práticas da JoinPolitics.
Um deles é a #FixPolitics, da Nigéria, fundada em 2020 por Oby Ezekwesili, especialista em políticas públicas, humanitarista e cofundadora da Transparência Internacional. A organização sem fins lucrativos aspira a criar uma democracia que funcione para todos por meio da educação e do encorajamento de cidadãos desfavorecidos para exercerem seus direitos cívicos, promovendo reformas eleitorais e treinando políticos que favoreçam a democracia. Problemas restritivos da democracia – como a falta de inclusão política, a desigualdade na educação ou a injustiça social – são também fundamentais para o trabalho da #FixPolitics.
Essas organizações são exemplos de uma tendência mundial de revitalização de princípios democráticos por meio de inovação cidadã. Iniciativas semelhantes surgiram na última década, incluindo o National Democratic Institute (Instituto Democrático Nacional), que prepara líderes no serviço público dos Estados Unidos; o Innovation in Politics Institute (Instituto para Inovação em Política), que facilita intercâmbios de melhores práticas de inovação entre fronteiras e divisões partidárias na Europa; a organização sem fins lucrativos Keseb, que procura construir um ecossistema global de empreendedores pró-democracia no Brasil, na Índia, na África do Sul e nos Estados Unidos; o Netherlands Institute for Multiparty Democracy (Instituto Holandês para Democracia Multipartidária), que criou uma rede de escolas de democracia em toda a Europa, Ásia, África e América Latina.
Todas elas compartilham um desejo de inovação social para “tomar parte na política”. O que fazem e como operam ilustram o que chamamos de inovação política: a prática cidadã de diagnosticar problemas no sistema político e trabalhar coletivamente visando soluções que tenham o objetivo de fortalecer e revitalizar a democracia. Os esforços dessas iniciativas respondem diretamente a ameaças cruciais à democracia, incluindo a ascensão do autoritarismo. Em 2022, o mundo viu mais Estados autocráticos do que democracias pela primeira vez em quase duas décadas. O relatório de resultados globais da Bertelsmann Stiftung de 2022 categorizou 70 países como autocracias, de um total de 137, e declarou outros 11 como “democracias altamente imperfeitas”, vulneráveis a se tornar governos autocráticos. Em 2021, a Freedom House, organização americana sem fins lucrativos, relatou um novo ponto alto nos 15 anos de “recessão democrática” global. Os países em que a democracia se deteriorava superavam em número aqueles “com melhorias [na democracia] pela mais ampla margem registrada desde que a tendência negativa começou”.
Além disso, a contínua crise global de saúde pública tem agravado muitas tendências antidemocráticas, como a normalização de poderes de emergência e a extensão do poder do Estado sobre a vida privada dos cidadãos.1 Movimentos populistas continuam a dividir as sociedades e, segundo o Índice de Democracia de 2021, até mesmo países com democracias “estáveis” tiveram pontuação baixa no quesito “participação do cidadão”.2 Ademais, ainda que os jovens estejam se tornando politicamente ativos, políticos em posições influentes continuam a representar a faixa etária e os interesses das pessoas de 50 anos ou mais. E a falta de representação política – percebida ou real – também pode contribuir para um aumento da desconfiança pública em relação a políticos e governos democráticos. De acordo com estudo realizado em 28 países pelo Barômetro de Confiança Edelman 2022,
42% de cidadãos de todo o mundo desconfiam de líderes de governo e 48% consideram o governo uma força desagregadora.
Apesar dessas deficiências, inovadores políticos consideram a democracia a forma mais adequada de governo para garantir ordem política, desenvolvimento econômico e progresso social. A visão deles reflete as preocupações e preferências da sociedade. Segundo um estudo de 2021 da More in Common e da Fundação Robert Bosch, 93% da população alemã era em princípio favorável à democracia, muito embora uma em cada duas pessoas não percebesse suas posições como representadas no governo.3 Entretanto, as perspectivas sobre como exatamente se constitui uma democracia estável e funcional variam, e tal variação proporciona os fundamentos pelos quais a inovação política ganha corpo como reforma sistêmica ou como transformação.
Por se tratar de um campo nascente, a inovação política corre o risco de se fragmentar em razão da falta de definição e terminologia estabelecidas. Agora, à medida que os esforços globais para fortalecer a democracia aumentam em todo o mundo, chegamos a um momento crítico no qual o campo necessita de consolidação. O nosso papel como estudiosos das organizações é o de fornecer linguagem e estrutura acerca do que é e do que não é inovação política. Por essa razão, neste artigo definimos os contornos do campo, proporcionamos clareza conceitual e mostramos suas articulações com a inovação social.
A inovação política nos incentiva a pensar em mudança social e mudança política como inter-relacionadas – não dissociadas. O político na inovação política estabelece o contexto do trabalho em política e o sistema político; a política inclui o engajamento cívico (“p” minúsculo), bem como engajamento formal em instituições políticas (“P” maiúsculo). A inovação se refere ao processo de diagnosticar problemas; desenvolver ideias e experimentar, implementar e adaptar soluções que podem se materializar sob a forma de produtos, métodos ou tecnologias para resolver um problema ou para pôr em vigor novas práticas políticas.
A inovação política abrange mudanças no modo como praticamos a democracia e na infraestrutura que a operacionaliza. Nós a vemos como um esforço contínuo e coletivo para garantir que a democracia continue a ser um sistema eficaz e de operacionalização adequada para se alcançar ordem e progresso sociais.
Nesse sentido, a inovação política não se distingue de um entendimento abrangente da inovação social, mas sim é compatível com ele, e esse entendimento vai além de reconhecer o seu potencial de impactar a vida econômica e política por meio de mudanças sociais. Em vez disso, a inovação política opera a reforma ou transformação de ordens políticas que é central à inovação social.4 Assim, uma visão ampla da inovação social incorpora a inovação política como uma prática adaptada à mudança política.
Os desafios da democracia, bem como as soluções inovadoras a esses desafios, são tão antigos quanto o próprio regime. Ao reconhecer
essa história, a inovação política vem complementar e ampliar três abordagens de há muito estabelecidas para o trabalho pró-democrático: inovação democrática, ativismo político e empreendedorismo político 5
A inovação democrática diz respeito ao desenho das instituições democráticas.6 Ela envolve soluções elaboradas para problemas de participação igualitária em processos de tomada de decisão política. Nos últimos 20 anos, por exemplo, as assembleias cidadãs surgiram como proeminente inovação democrática na Europa Ocidental. Elas reúnem cidadãos selecionados por sorteio que deliberam sobre um problema político a fim de buscar uma solução coletiva. De modo similar, a votação eletrônica ou o orçamento participativo (orçamento público decidido pelo cidadão) são exemplos importantes que promovem elementos de democracia direta. Desse modo, a inovação democrática fornece as ferramentas tecnológicas que auxiliam a democratizar processos deliberativos em corpos governamentais ou outras organizações – isto é, a democratizar o modo como as decisões são tomadas. A inovação política, em contrapartida, mantém seu foco mais em pessoas e agendas políticas – ou seja, em quem decide quais esforços são realizados e por quê.
do Brand New Bundestag, do empreendedor social Max Oehl, surgiu quase ao mesmo tempo que a JoinPolitics, em resposta aos mesmos problemas sociopolíticos da Alemanha, mas enfatizando dimensões políticas diferentes. Inspirada no Brand New Congress, movimento norte-americano voltado à eleição de pessoas da classe trabalhadora, a organização faz uso de mobilização de base visando o apoio à elaboração de políticas sociais progressistas e às campanhas de candidatos que defendam interesses de comunidades marginalizadas.
O Brand New Bundestag intencionalmente conceitualiza o “progressismo” como não partidário – como externo à filiação partidária – em sua missão em favor de políticas “adaptadas para o futuro” que facilitem a colaboração entre linhas partidárias e também a colaboração que independa delas. Em 2022, Oehl foi selecionado como Ashoka Fellow em reconhecimento a sua abordagem inovadora do trabalho pró-democracia que une as forças do ativismo de base e a política formal. Com esse mesmo espírito, Christiana Bukalo, talento da JoinPolitics e fundadora da organização sem fins lucrativos Statefree, foi agraciada com uma bolsa Echoing Green, por seus esforços em fortalecer pessoas apátridas por meio de mudança legislativa primeiramente na Alemanha e mais tarde no âmbito da União Europeia.
A segunda abordagem, o ativismo político, desafia a ordem política existente e, quando bem-sucedida, subleva o sistema. Basta pensar nos protestos pró-democracia da Primavera Árabe, que intentaram derrubar regimes de opressão, a começar pela Tunísia e espalhando-se rapidamente por todo o Oriente Médio e norte da África. O ativismo político usa métodos como mobilizações de base e virtuais, protestos, petições e realização de campanhas para chegar a uma transferência de poder do Estado para as pessoas que atuam como agitadores externos às estruturas políticas formais.7 A inovação política, por sua vez, busca manter e ainda melhorar o sistema por meio de soluções intrassistêmicas.
Já o empreendedorismo político trata da criação de novos partidos ou coalizações políticas para preencher lacunas em espectros políticos democráticos.8 Pode-se pensar em partidos novos, como o Pirate Party ou o Volt – ambos ativos sobretudo na Europa –, que desafiam os modos tradicionais de criação, organização e funcionamento dos partidos políticos. Se a inovação política pode incluir a formação de um novo partido, ela também inclui esforços para melhorar e modificar os existentes.
A prática da inovação política integra algumas das atividades associadas a abordagens estabelecidas do trabalho pró-democrático, alinhando-as, porém, à inovação social. A título de ilustração, a iniciativa
As características definidoras do campo são a determinação em refundar a política em princípios democráticos fundamentais e em converter cidadãos em protagonistas da democracia. A primeira deixa a inovação política longe dos esforços para solapar a democracia, enquanto a segunda procura reverter tendências inerentes a formas de populismo, nestas em que líderes supostamente representam os não representados, garantindo que se façam ativamente envolvidos em processos democráticos de tomada de decisão.
Em posição central à inovação política como campo de prática encontram-se os inovadores, orquestradores e facilitadores. Eles fazem da inovação política um esforço coletivo com agenciamento distribuído, baseado numa disposição compartilhada de buscar acesso no sistema político e nele intervir de maneira construtiva.
Inovadores. Esses agentes são cidadãos orientados para soluções e iniciativas da sociedade civil. Eles partem de um desafio social urgente para realizar mudanças em sistemas políticos por meio da ação. Ainda assim, em vez de atuar como agitadores externos, eles assumem responsabilidade por desenvolver e introduzir soluções que estejam de acordo com princípios democráticos. Suas soluções fazem frente a toda uma variedade de problemas da democracia e podem se materializar em inúmeras formas, como um programa que recruta mulheres para cargos políticos visando atingir a paridade em governos, séries de oficinas de educação política para administrações públicas ou uma rede de lobbies políticos para artistas, com vistas a aumentar o poder político desse grupo tradicionalmente desprovido de poder.
Os inovadores se engajam numa pluralidade de atividades para atacar problemas que são criados no âmbito político e devem, por essa razão, ser resolvidos mediante ação política. Essas atividades incluem advocacia, assessoria, networking, educação política, treinamento e pesquisa.
[A inovação política é ] um esforço contínuo e coletivo para garantir que a democracia continue a ser um sistema eficaz e de operacionalização adequada para se alcançar ordem e progresso sociais.
Contudo, os inovadores com frequência carecem de recursos e de influência para estabelecer inovações em práticas políticas, uma vez que não se encontram estruturalmente integrados ao sistema político. Por vezes fazem uso de parcerias – em particular, conexões pessoais com representantes eleitos realizadas mediante adesão partidária ativa. Acima de tudo, porém, dependem de outro tipo de ator no campo – os orquestradores – para fornecer a estrutura de apoio necessária visando institucionalizar suas ideias.
Orquestradores. Esses agentes constroem e coordenam o campo da inovação política. Dão forma à dinâmica entre os diferentes atores e a esfera política, coordenando o fluxo de recursos, ideias e pessoas no âmbito do campo. Sua função é profissionalizar o trabalho de inovação política. Algo importante é que os orquestradores inauguram a comunicação entre os inovadores da sociedade civil e a política e facilitam a institucionalização de inovações, tornando as ideias adequadas para a política.
Orquestradores como a JoinPolitics, o Brand New Bundestag e a #FixPolitics, bem como a Tous Elus e a Académie des Futurs Leaders, da França, e a Keseb, dos Estados Unidos, compartilham
Contrariando a norma desse setor, filantropos e fundações ativas em inovação política dão seu apoio a inovadores e orquestradores porque buscam chegar a mudanças sociais por meio de mudanças políticas formais. Se muitas vezes favorecem modelos de organização de empreendedorismo comuns à inovação social, esses facilitadores se posicionam como explicitamente políticos e pró-democráticos.
um entendimento de que o sistema político necessita de melhorias. Tal compreensão conduz a aspiração dessas organizações para a sistematização de esforços já existentes, mas talvez insuficientemente elaborados. A diversidade de suas estratégias ilustra respostas possíveis à representação desigual e à participação cívica insuficiente em diferentes países. Esses orquestradores constroem pontes entre políticas e cargos públicos para inovadores que fortalecem a democracia. Em muitos casos, seus nomes indicam o que cada qual acredita ser a melhoria necessária para a democracia em seus respectivos países – pode ser o melhor acesso à política (JoinPolitics), um parlamento representado de maneira equitativa (Brand New Bundestag), reformas estruturais (#FixPolitics), inclusão (Keseb, que significa “todas as pessoas” na antiga língua sul-semítica do ge’ez), ou legitimidade (Tous Elus quer dizer “todos eleitos” em francês).
Facilitadores. Os financiadores desse campo são em grande parte atores filantrópicos não convencionais na medida em que abraçam a instância política e pró-democrática, mas não necessariamente todas as concepções políticas das iniciativas por eles apoiadas. Tradicionalmente, na Europa Ocidental, a filantropia tem investido em política de maneira indireta – por exemplo, ao financiar organizações da sociedade civil em busca de mudanças políticas –, mas tem evitado doações e financiamentos diretos a causas políticas. Na Alemanha e no Reino Unido, as fundações têm sido até mesmo legalmente obrigadas a se abster de financiar iniciativas de pessoas e instituições que sejam parte da estrutura política formal.
A abordagem dos facilitadores em relação à inovação política assenta-se em dois pilares: conferem apoio para períodos mais longos que o comum em inovação social e usam métodos como o crowdsourcing para identificar iniciativas dignas de receber financiamento. Os facilitadores que identificamos incluem financiadores que têm demonstrado um interesse de longa data em democracia, incluindo a Open Society Foundation, a William and Flora Hewlett Foundation e a Ford Foundation. Também identificamos fundações que se tornaram ativas em inovação política nos últimos anos, como a Luminate (parte da Omidyar Network), a Schöpflin Foundation, a Hertie Foundation, a Alfred Landecker Foundation, a Obama Foundation, a Multitudes Foundation e a Daniel Sachs Foundation. As duas últimas representam esforços filantrópicos no sentido de equacionar o hiato de recursos entre as iniciativas da sociedade civil e o poder político. A Obama Foundation, por exemplo, opera toda uma série de programas de financiamento voltados ao desenvolvimento de lideranças capazes de fortalecer a democracia em serviços e políticas públicas. As atividades dos diferentes agentes podem se sobrepor, mas satisfazer propostas distintas. Para os inovadores, atividades como networking, educação política e treinamento fazem parte do processo de geração de ideias e conhecimentos, enquanto os orquestradores as empregam para construir o campo de inovação política. De modo semelhante, os orquestradores adquirem e distribuem recursos com o objetivo de auxiliar inovadores a organizar seus esforços para, ao final, tornar suas ideias adequadas à implementação, enquanto os facilitadores fornecem recursos para que o campo cresça e possa se sustentar a si mesmo.
O trabalho dos agentes assume diferentes formas, atividades e práticas. Para compreender como a inovação política funciona e como cria impacto, julgamos útil fornecer um detalhamento sobre o trabalho na democracia e sobre as trajetórias de impacto características da inovação política. Nossa pesquisa identificou especificamente três focos desse esforço que juntos explicam de que modo a inovação política fortalece a democracia. Inovadores e orquestradores diferem quanto a adotar um foco ou diversos deles. Esses focos são úteis para mapear partes interessadas relevantes e ajudar financiadores a investir em portfólios de financiamento e desenvolvê-los.
O trabalho com foco no cidadão mobiliza cidadãos que são ou se sentem deixados de fora do sistema político. Esse trabalho é primordialmente o de trazer cidadãos e a sociedade civil de volta para
Inovadores, orquestradores e facilitadores fazem da inovação política um esforço coletivo baseado numa disposição compartilhada de buscar acesso no sistema político e nele intervir de maneira construtiva.
a política e não raro se baseia em campanhas voltadas a organizar cidadãos para que façam valer seus direitos civis (votem) ou se engajem na política (disputem cargo eletivo). Exemplos incluem ideias de crowdsourcing, visando mudanças políticas ou educação política para o público por meio de campanhas de educação do eleitor, jogos de simulação ou oficinas.
O trabalho com foco no líder tem por objetivo identificar e alimentar o talento político. De um modo geral, busca diversificar a reserva de talentos políticos, reconhecendo grupos sub-representados e chegando a eles, combatendo a natureza hierárquica e inercial de carreiras políticas mediante diversas atividades de treinamento e apoio. Muitas vezes esse trabalho baseia-se no estabelecimento ou uso de academias, incubadoras ou centros de treinamento existentes. Exemplos disso incluem a seleção e o treinamento de candidatos a cargos entre grupos sub-representados, por vezes fornecendo financiamento a candidaturas. Uma agente estabelecida nessa linha de trabalho é a Apolitical, que coordena e licencia uma rede global de instituições de treinamento com vistas à liderança política. Por meio de seu ramo de empreendimento social, a organização oferece cursos grátis de formulação de políticas, desenvolvidos em colaboração com governos, e conecta líderes políticos e funcionários públicos com vistas a promover o aprendizado entre pares.
O trabalho com foco na estrutura procura dar forma à infraestrutura da democracia e às regras que a governam. Pode ter como alvo políticas que não estejam dando boa resposta a problemas relacionados à democracia, e isso em diferentes níveis. Pode também se empenhar para mudar normas em administrações públicas (por exemplo, a representação de minorias) ou leis no âmbito regional ou nacional. O movimento #FixPolitics engaja-se num trabalho de democracia estrutural mediante a busca de amplas reformas constitucionais e eleitorais em suas instituições legislativa, executiva e judiciária. A organização demonstra de que modo os agentes de inovação política podem atender a mais de uma categoria de trabalho na democracia: a estratégia triangular do #FixPolitics inclui também o gerenciamento de campanhas e programas públicos, visando produzir um eleitorado nigeriano competente (trabalho conduzido por cidadãos), e a operacionalização de uma escola de treinamento político (com foco no líder).
Todos os três expedientes do trabalho em democracias promovem mudanças no sistema político e criam impacto ao longo de duas vias principais: a reforma e a transformação da democracia. Ambas as vias são consistentes com uma abordagem fragmentada e gradual de mudanças voltadas mais ao rejuvenescimento do que à substituição da democracia.
Os esforços que buscam a via da reforma têm por objetivo atualizar o sistema operacional para fortalecer a democracia. Em outras palavras, buscam expandir o sistema, tornando-o mais inclusivo, representativo, justo e equitativo, ao mesmo tempo que se mantém intacta a sua arquitetura. Tais esforços poderiam versar sobre uma garantia de que as instituições políticas existentes representem melhor a população e de que os serviços públicos reconheçam as necessidades dos cidadãos e respondam adequadamente a elas. Por essa via de reforma, as instituições políticas existentes são ferramentas para a mudança. Considerem-se, por exemplo, representantes de minorias sendo eleitos para cargos com o intuito de aumentar a representatividade dessas minorias num governo.
Tiaji Sio, talento da JoinPolitics e cofundador da iniciativa DIVERSITRY, busca a via da reforma enfrentando processos e representação não democrática em instituições públicas alemãs. Valendo-se da experiência de Sio como servidor público no Ministério das Relações Exteriores, a equipe do DIVERSITRY formou uma rede interdepartamental de pessoas não brancas que trabalham na administração pública. Elas assessoram ministérios sobre como aprimorar a representação e a justiça nos atos de recrutamento e de formulação de políticas. A Politics in Colour (Política em Cores) também faz frente a desigualdades raciais em instituições públicas. Essa iniciativa australiana treina e apoia mulheres não brancas, incluindo as altamente sub-representadas mulheres indígenas, para que se tornem funcionárias públicas ou políticas, o que permite que levem os interesses de suas comunidades para a esfera política.
Os esforços e iniciativas que buscam a via da transformação têm o objetivo de reconfigurar o sistema operacional. Essas tentativas partem do princípio de que as instituições de nossos dias não estão de todo adaptadas à finalidade e precisam de mais do que uma simples atualização ou ajuste das atuais circunstâncias – demandam uma mudança estrutural. Ao longo dessa via, as instituições existentes são, por essa razão, o objeto da mudança, mais do que os meios para ela.
O movimento Tous Elus segue essa via, personificada por seu moto segundo o qual (re)inventar a democracia depende das pessoas – seu slogan “la démocratie n´existe pas, à nous de l´inventer” se traduz por “a democracia não existe, cabe a nós inventá-la”. O Tous Elus organiza suas atividades em torno do princípio de legitimidade democrática e, assim como o #FixPolitics, forma o público e treina jovens de comunidades politicamente marginalizadas para que se tornem politicamente instruídos, exerçam seus direitos democráticos e concorram a cargos eletivos.
Enquanto os focos do trabalho e de suas vias fornecem insights sobre o impacto potencial da inovação política, a avaliação da atividade política é necessariamente – nas palavras de Steven Teles e Mark Schmitt – um “ofício ardiloso”.9 Ferramentas populares para avaliar e comunicar impacto em inovação social não são aplicáveis à inovação política, uma vez que o progresso e a mudança ocorrem em padrões não lineares e entrecortados.
Por mais que possa ser impossível desenvolver indicadores universalmente aplicáveis para captar e comparar impactos em diferentes tipos de trabalho e de vias, o monitoramento do progresso é importante para as organizações individuais e para o campo da prática.
As três categorias de trabalho por nós esboçadas ajudam a definir medidas significativas para monitorar atividades, tais como a quantidade de sessões de treinamento para talentos políticos que foram conduzidas; captar retornos, como o da quantidade de políticas que foram projetadas e o da quantidade de inovadores políticos que disputaram cargos políticos ou se formaram na universidade; ou apresentar resultados, como os de inovadores em diferentes posições de poder formal, políticas implementadas ou leis aprovadas. Contudo, em razão da natureza não linear das mudanças políticas, temos de resistir à tentação de consagrar e otimizar metas facilmente mensuráveis.
Independentemente da via escolhida, é bem provável que as mudanças no sistema político serão muito lentas e tortuosas, com altos e baixos que não podem ser de todo antecipados.10 Pensemos nos candidatos que não concretizam todas as esperanças e promessas que fizeram em seus discursos de campanha, já que estar em campanha para um cargo e efetivamente ocupá-lo são tarefas distintas, que requerem habilidades diferentes. Ou nos numerosos reveses criados por movimentos e campanhas antidemocráticas, como a campanha do Brexit, em 2016, do partido Reform UK, de Nigel Farage, denunciado por deliberadamente disseminar desinformação para conquistar eleitores. Portanto, a inovação política precisa ser um esforço contínuo e coletivo tendo como base um compromisso compartilhado com princípios democráticos e com a mobilização de uma massa crítica de pessoas e ideias para efetuar mudanças políticas. Jamais pode ser responsabilidade ou função apenas de inovadores ou orquestradores individuais.
O marcador definitivo de impacto da inovação política é o quanto ela contribui para uma democracia saudável. Algumas organizações, como a Democracy Fitness, sediada na Dinamarca, consideram a democracia um músculo que demanda contínuo treinamento e fortalecimento. Uma aspiração a manter a democracia saudável por meio de rigoroso treino de fitness, em oposição à supressão de patologias e ao combate a sintomas, também ajudaria a evitar doenças e ameaças democráticas futuras. Os sistemas e receitas de treinamento e curas deveriam ser destinados à sociedade, levar em conta diferentes realidades geográficas e temporais, além de ser direcionados ao progresso social.
Para que o campo se torne impactante e institucionalizado, precisaremos pensar com mais cuidado em como nos relacionamos com e/ou potencialmente cooptamos as infraestruturas políticas existentes. Por exemplo, na maior parte dos países europeus, os partidos políticos recebem financiamento público como forma de amparo a seu trabalho. Na Alemanha e na Áustria, os partidos costumam criar academias e desenvolver programas para identificar, alimentar e recrutar talentos políticos. De que modo podemos garantir que essas instituições estejam satisfazendo os princípios democráticos de representação e participação igualitárias? Como podemos viabilizar uma transferência das melhores práticas de trabalho democrático em diferentes países? E, finalmente, de que forma a inovação política se torna uma referência democrática em democracias imperfeitas ou mesmo em autocracias?
À medida que o campo evolui, temos de desenvolver um método para apreender crescimento e dimensionar a inovação política. Também precisamos compreender melhor os potenciais compromissos entre apoiar líderes e ideias para soluções. Pode o investimento na carreira de um político estar alinhado ao investimento no tempo demandado para se implementar uma solução? Na verdade, as características pessoais importam não apenas para desafiar poderes políticos, mas para obtê-los e atuar num cargo de acordo com princípios democráticos. O #FixPolitics faz uso de cinco Cs (caráter, competência, capacidade, coragem e compaixão) e a JoinPolitics descreve o talento político ideal listando cinco itens (“executor” visionário, bom com pessoas, persuasivo, autorreflexivo e movido por propósito). Precisamos também de boas ideias para soluções imediatas que coincidam com uma janela política de oportunidade. Por essa razão, temos de começar a desenvolver repositórios de ideias democráticas inovadoras, que sejam comparáveis a bancos
de sangue sociais. É provável que o melhor meio de fazê-lo esteja na promoção de intercâmbio e colaboração entre diversas pessoas que possam manter vivas ideias alternativas, em vez de registrar essas ideias numa estrutura específica – algo que a maior parte dos orquestradores já compreendeu ao enfatizar o treinamento e a construção da comunidade.
Também precisamos de mais experimentação sobre como amparar e financiar a inovação política. Os financiadores devem abrir mão de práticas de investimento de impacto que antecipem um engajamento prático com a parte beneficiária ou investida. A inovação política como um campo só vai prosperar e ser capaz de fortalecer e revitalizar a democracia quando os investidores humildemente se afastarem de um envolvimento direto em seus investimentos a fim de garantir autonomia e independência. Os atuais entusiasmo e aprendizado em torno da filantropia baseada na confiança, na qual os financiadores obtêm mais poder e controle sobre as comunidades por eles servidas, podem proporcionar insights importantes sobre como administrar as relações não apenas entre financiadores e beneficiários, mas também entre financiadores e orquestradores. Contudo, são necessários diálogos mais honestos para se compreender como traduzir o compromisso de salvaguardar princípios democráticos em sociedade num código operacional para inovadores, orquestradores e facilitadores.
A ascensão da inovação política atesta o medo das sociedades de perder a democracia. Demonstra uma disposição em melhorar o sistema pelo uso de meios construtivos – em oposição a meios radicais e antissistêmicos. Busca redefinir a responsabilidade política, tornando “o social” político e “o político” social. Os agentes que dão forma a esse campo de prática estenderam a inovação social à esfera política para preencher a lacuna entre sociedade civil e política, que tornou tão vulnerável a democracia. Eles sabem que a mudança social requer mudança política. A urgência que atribuem ao resgate e ao rejuvenescimento da democracia manifesta-se em inovação política. Por esse motivo, o campo, seu crescimento e sua consolidação dizem respeito a todos nós. n
1 Democracy Index 2021: The China Challenge. London, The Economist Intelligence Unit Limited, 2022; Alizada et al., Autocratization Turns Viral: Democracy Report 2021. Gothenburg, Sweden, University of Gothenburg, 2021.
2 Democracy Index 2021: The China Challenge
3 Robert Bosch Stiftung e More in Common, org., It´s Complicated. People and Their Democracy in Germany, France, Britain, Poland, and the United States, 2021.
4 Roberto Mangabeira Unger, “Conclusion: The Task of the Social Innovation Movement”, in A. Nicholls, J. Simon e M. Gabriel, org., New Frontiers in Social Innovation Research. London, Palgrave Macmillan UK, 2015.
5 Ver, por exemplo, Graham Smith, Democratic Innovations: Designing Institutions for Citizen Participation. Cambridge, United Kingdom, Cambridge University Press, 2009; Hahrie Han, Elizabeth McKenna e Michelle Oyakawa, Prisms of the People Power & Organizing in Twenty-First-Century America. Chicago, University of Chicago Press, 2021; e Joseph Lentsch, Political Entrepreneurship: How to Build Successful Centrist Political Start-ups. Cham, Switzerland, Springer, 2018.
6 Smith, Democratic Innovations
7 Charles Tilly, From Mobilization to Revolution. Reading, Massachusetts, AddisonWesley, 1978.
8 Lentsch, Political Entrepreneurship
9 Steven Teles e Mark Schmitt, “The Elusive Craft of Evaluating Advocacy”. Stanford Social Innovation Review, verão de 2011.
10 Christian Seelos, “Mudando Sistemas? Então Desacelere”. Stanford Social Innovation Review Brasil, terceira edição.


Fotomontagem: Mauricio Planel
Só podemos acabar com os impactos desastrosos das fake news: garantindo a existência e apoiando o desenvolvimento de iniciativas locais que contribuam para reduzir os desertos de notícia. Munir os cidadãos de informação para que possam participar da vida pública a partir do território onde residem é a única forma de proteger a democracia.
Porque a desigualdade de informação tem criado mundos paralelos. E não basta fazer fact-checking, educação midiática ou pensar em produzir mais notícias. Estamos esquecendo de olhar para a audiência, para as pessoas, e de nos perguntar se todas elas têm acesso às informações que garantem sua participação nos locais em que vivem (como emergências e riscos imediatos e de longo prazo, saúde e bem-estar, qualidade das escolas, etc.). Falar sobre ecossistemas de informação significa não apenas pensar na indústria, mas também na outra ponta, em quem precisa acessar a informação e como essa informação torna o cidadão participante do processo democrático. É finalmente tratar informação como um bem público e, portanto, seus problemas e soluções ligados a essa ética.
Nas últimas eleições municipais no Brasil, em 2020, em meio à pandemia, duas organizações, Agência Mural1 e Énois,2 que defendem e praticam o jornalismo local, fizeram parceria para que os eleitores chegassem às urnas mais bem informados. Sediadas em São Paulo, decidiram contratar, na última semana antes do primeiro turno, um carro de som3 para percorrer sete regiões da cidade para veicular – assim como os já conhecidos “carros do ovo”, que anunciam por megafone o produto à venda – cinco episódios do podcast “Em Quarentena”. Produzidos pela Mural, os áudios eram dedicados a explicar o processo eleitoral para seus ouvintes: moradores e moradoras das periferias.
Foram 35 horas de programa abordando desde as diferenças entre vereadores/as e prefeitos/as até o conteúdo do plano de metas que dizia respeito às periferias – que a população tinha direito de reivindicar e cobrar de seus representantes, uma vez eleitos. Era urgente esclarecer as confusões disseminadas em grande volume, sobretudo pelo WhatsApp. Pensar em formas de fazer a mensagem chegar ao público-alvo também, e exigia um outro jeito de produzir e distribuir informação.
Essa é apenas uma das experiências que trazem cada uma de nós até aqui. Há mais de uma década à frente dessas duas organizações, conhecemos de perto o trabalho das iniciativas de jornalismo local em São Paulo, a maior metrópole da América Latina, e dele fazemos parte. Sabemos do impacto positivo dessa atuação e temos acompanhado – e participado – as discussões em torno de seus desafios atuais: continuar em busca da sustentabilidade financeira, cuidar de entender e alcançar a audiência, produzir informação relevante para o cotidiano dessas populações.
No entanto, acreditamos que é preciso dar um passo à frente nessa conversa. E rápido.
Em pouco mais de 12 meses, estaremos enfrentando o mesmo problema que nos levou à nossa parceria e ao carro de som. Em outubro de 2024, vamos eleger (ou reeleger) exatos 5.570 prefeitos e prefeitas e mais de 50 mil representantes nas câmaras municipais no país. Quem observou as consequências das últimas avalanches de desinformação que circularam recentemente (no Brasil e no mundo) sabe que campanhas eleitorais são, mas não deveriam ser, um viveiro delas.
Um estudo recente4 publicado pelo Instituto Igarapé, que analisou publicações nas principais redes sociais durante a última eleição presidencial no país, em 2022, detectou quatro narrativas políticas abrangentes que incluíam esforços para: 1) reduzir a confiança no sistema eleitoral; 2) atacar as instituições democráticas; 3) difamar e diminuir a influência de adversários políticos; e 4) influenciar os principais apoiadores a agir. Conteúdos que buscavam minar a confiança no sistema eleitoral representaram mais de 32% dessas narrativas.
Soma-se a isso um cenário de desigualdade de informação. No Brasil, segundo o mais recente Atlas da Notícia (2022), cerca de 50% dos municípios são considerados desertos de notícias – não têm ao menos uma organização jornalística local. “Nessa condição estão 2.968 cidades e nelas vivem 29,3 milhões de pessoas”, diz o texto do lançamento da próxima edição,5 que está em fase de coleta de dados.
Já os quase desertos, lugares que contam com apenas um ou dois veículos de comunicação, somam 1.460 municípios (25% do total), onde vivem mais 31,8 milhões de brasileiros. Se fizermos a conta, temos um potencial explosivo de desinformação em 4.428 cidades, que corresponde a 79% das cidades do país.
Pesquisas comprovam7 que a ausência de um ecossistema de informação local contribui para a manutenção de currais eleitorais, para a falta de visibilidade e combate à corrupção do poder público e diminui o acesso a direitos básicos, além de desincentivar a participação do cidadão nas instâncias da política próximas de seu cotidiano, em que realmente pode ter alguma influência. Um estudo recente do Reuters Institute8 confirmou que as audiências têm cada vez mais mostrado uma falta de confiança em meios que não mantêm essa conexão próxima e direta com elas.
Enquanto isso, uma cobertura local de qualidade cria e sustenta o sentimento de pertencimento a uma comunidade e abre espaços para a ação e a participação cidadã.
IZABELA MOI é jornalista, cofundadora e diretoraexecutiva da Agência Mural de Jornalismo das Periferias e professora visitante no Institute Français de Presse, em Paris. NINA WEINGRILL é jornalista, cofundadora da Énois (2009) e consultora para organizações de jornalismo. É fellow do International Center for Journalists (EUA), no qual pesquisa ferramentas e metodologias para o fortalecimento
do jornalismo local e suas interseções com políticas públicas. É membra fundadora da Associação de Jornalismo Digital (Ajor) e participa da rede Future of Local News, com sede nos Estados Unidos.
Em parceria, ambas as autoras estão desenhando uma pesquisa para mapear, definir e categorizar como existem e se conectam esses ecossistemas de informação local no Brasil.
Em casos de grandes desastres ou emergências, como foi a pandemia de Covid-19, é esse ecossistema local que mantém a população informada e menos exposta a riscos. No início da pandemia no Brasil, por exemplo, ainda que orientações de cuidados com a saúde fossem transmitidas diariamente pela TV aberta, havia necessidades que o jornalismo nacional ou mesmo regional não davam conta de cobrir. No Complexo do Alemão, bairro que abriga 13 favelas e mais de 55 mil pessoas, na zona norte do Rio de Janeiro, moradores e organizações9 do território se uniram para instalar faixas que orientavam a população sobre como se prevenir no caso de não haver água encanada em casa para lavar as mãos.
Para o jornalista Jamelle Bouie,10 colunista político do New York Times, é aí que existe um ponto cego. Olhamos para o combate à desinformação como principal solução para a construção da democracia e deixamos de lado o debate mais importante. Em “Disinformation is not the real problem of democracy”11 (“A desinformação não é o verdadeiro problema da democracia”), texto publicado em sua newsletter semanal, Bouie argumenta que precisamos criar um “ambiente informacional” que dê regularidade para a produção e o acesso à informação local de qualidade, pois é ela que nos ajuda a construir um senso de comunidade. E é também nisso que acreditamos. Mas como pagar as contas?
Reduzir Danos e Garantir Acesso
O debate em torno da sobrevivência do jornalismo local, e também do jornalismo em geral, parece ter sido capturado pela ideia de que a regulação das plataformas é a bala de prata possível, além de necessária, para conter a desinformação e seu impacto sobre as sociedades democráticas e levantar fundos para a indústria que vive a crise final de seu modelo de negócios, decadente há mais de uma década. Será?
A Unesco, em uma conferência global organizada no final de fevereiro deste ano e que contou com a participação de vários setores da sociedade, como imprensa, ONGs, governos, influencers (anunciados ao microfone quase como um setor à parte) e setor
50% dos municípios (2.968 cidades) não têm nenhuma organização jornalística local: são os chamados desertos de notícias, nos quais vivem quase 30 milhões de pessoas.
25% dos municípios (1.460 cidades) têm um ou dois veículos de comunicação: são os quase desertos, lugares com cerca de 32 milhões de habitantes.
privado, chegou a uma proposta de 28 páginas12 com orientações para fomentar a discussão sobre a regulação das plataformas e tentar, de um lado, reduzir os danos da produção e circulação de desinformação e, de outro, garantir o acesso à informação (e a sobrevivência do jornalismo).
Nessa conferência, a jornalista filipina Maria Ressa, Prêmio Nobel da Paz de 2021, que fez a fala de abertura, defendeu que a falta de regulação não apenas fez sucumbir o modelo de negócios do jornalismo, mas também contribuiu muito para a falta de confiança no trabalho da imprensa.
No Brasil, nessa mesma esteira, a discussão sobre um provável primeiro ensaio de política pública de regulação das plataformas foi impulsionada pelo debate em torno do chamado PL das Fake News (2.630/2020, da Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet).
A Ajor,13 associação de mais de cem organizações jornalísticas digitais, fundada em 2021, marcou posição, indicando alguns riscos, principalmente os ligados ao artigo 38 –de concentração dos recursos nas mãos das grandes organizações e falta de transparência nos processos de distribuição.
S ão a somatória de pessoas e organizações que produzem, verificam e distribuem informação de interesse público dentro de um espaço geográfico, ajudando a manter uma infraestrutura cívica vital para o funcionamento de uma comunidade, como segurança, educação de qualidade e saúde pública.
Como navegar nessa discussão? Dos principais problemas e riscos às soluções.
O contexto atual:
1. Epidemia de desinformação local: o acesso à internet sem educação para a mídia tem provocado crises sem precedentes nos processos eleitorais.
2. Desertos de notícia: metade dos municípios brasileiros não possuem cobertura jornalística local.
3. Aprofundamento da crise do modelo de negócios do jornalismo: o que inclui uma concentração dos recursos vindos da filantropia para intermediários do campo jornalístico.
O que precisa ser feito:
1. Território: fomentar uma lógica autônoma de produção e consumo de informação, a partir do local, é um ciclo virtuoso que contribui a curto prazo na construção democrática.
2. Ações sistêmicas: atores interessados na construção democrática a partir da produção jornalística devem ampliar e descentralizar seus investimentos de forma a promover um olhar mais complexo para o campo, incluindo iniciativas que dão conta das necessidades básicas de informação do cidadão e que não fazem parte da indústria.
3. Políticas públicas: não há solução possível para a construção da democracia se ela não parte do nível local de participação cidadã. Os governos precisam criar mecanismos de fomento direto a esse ecossistema, com autonomia para os municípios.
“Ao propor o referido artigo, o Legislativo brasileiro reconhece o jornalismo como bem de interesse público e aponta um caminho para seu financiamento. Mas delegar ao Executivo, ‘na forma da regulamentação’, o detalhamento de um mecanismo poderoso como esse, capaz de alterar profundamente o ecossistema jornalístico nacional, beira a irresponsabilidade. Se o jornalismo é bem público, seu financiamento deve ser política de Estado, não canetada do governo de turno”, diz a Ajor em seu próprio site, em artigo publicado em março de 2022.14
Em meados de maio, o Comitê Gestor da Internet no Brasil, organização da qual participam vários setores da sociedade, lançou um relatório que avalia o PL das Fake News a partir do ponto de vista da remuneração do jornalismo e conclui: “Essa desigualdade informacional sempre existiu, e, em países com níveis de desigualdade crônica, como o Brasil, sempre foi um desafio fundamental. No entanto, o aumento do poder das plataformas digitais e as mudanças no papel que exercem de organização e distribuição de conteúdo, associados ao aprofundamento da crise do jornalismo, podem levar a um abismo cada vez mais profundo entre quem tem e quem não tem acesso à
informação de qualidade, confiável e plural”.
A lei australiana tem sido usada como base para pautar a conversa por aqui. O país aprovou, em 2021, um código abrangente com o objetivo de transferir recursos das empresas de tecnologia para financiar o trabalho de jornalistas. Segundo a Columbia Journalism Review15 (leia em português aqui16), a legislação não deu conta de cuidar da falta de transparência dos acordos, protegidos por cláusulas de confidencialidade, e deixou para as plataformas o direito de escolher os valores e com quem negociar.
Mas a drenagem de recursos do jornalismo para a máquina gigante de publicidade que são as plataformas não é a única, apesar de talvez a maior, causa da instabilidade e do enfraquecimento financeiro do modelo de negócios desse ecossistema, principalmente o local.
As novas fontes de recursos, vindas da filantropia de fundos privados e da doação das pessoas também tendem a se concentrar – inclusive regionalmente. Em 2022, por exemplo, cerca de US$ 2 milhões vindos da filantropia internacional para o jornalismo foram destinados para oito iniciativas no Rio de Janeiro e em São Paulo, de acordo com o mapeamento do site Media Funders.17
Richard Tofel, cofundador da agência de notícias norte-americana sem fins lucrativos ProPublica, escreve em uma de suas newsletters semanais18 sobre um novo risco nesse modelo, o da criação e consequente concentração de recursos em organizações intermediárias e associações da indústria. Mais eficiência no monitoramento e avaliação, mas menos recursos e menos organizações contempladas diretamente para a produção de informação. Uma tendência mundial.
Estudo19 publicado no ISOJ confirma que “as ideologias daltônicas” da filantropia e do jornalismo são uma barreira para que organizações de jornalismo de comunidades estruturalmente marginalizadas recebam financiamento e recursos. “Em 2020, a Iniciativa Filantrópica para a Equidade Racial descobriu que, dos US$ 11,9 bilhões para empresas e fundações comprometidas com o trabalho de justiça racial entre 2015 e 2020 (durante o auge do movimento Black Lives Matter), apenas US$ 3,4 bilhões foram concedidos a comunidades de cor e
A história do prefeito Michael Tubbs,6 nos Estados Unidos, exemplifica o risco da degradação do ecossistema de informação local para a democracia e para o destino de uma cidade. O mais jovem – e o primeiro afro-americano – a liderar a cidade de Stockton, localizada a cerca de 150 quilômetros do coração do Vale do Silício, na Califórnia, e com uma população de mais de 300 mil habitantes, viu sua trajetória e seu trabalho interrompidos pela desinformação.

Considerada um quase deserto de notícia, o único jornal local (impresso) da cidade, o Stockton Record, já definhava em 2016, quando Tubbs foi eleito. A cobertura online e de TV do que se passava na cidade era feita por organizações regionais, portanto, de forma mais distanciada. Mas em seu primeiro mês de mandato, em 2017, o jovem prefeito viu aparecer uma organização digital que, segundo diziam, havia sido criada para fazer jornalismo local.
O 209 Times tornou-se um símbolo de como um município pode se tornar vítima da propaganda pura e simples ou, no mínimo, da falta de diversidade de fontes de noticiário. Quem poderia dizer que um site com pessoas produzindo conteúdo de forma “profissional” (no caso, remunerada) poderia ser apenas uma máquina de campanha que distribuía informações falsas com uma agenda política predeterminada: a de ser a oposição a um mandato?
É claro que Michael Tubbs não conseguiu se reeleger. Apesar de ter deixado a prefeitura com um superávit de mais de US$ 10 milhões e ter alçado Stockton, um município muito desigual, à quarta cidade mais “fiscalmente responsável” do país, a opinião pública, guiada pelas “notícias” publicadas pelo único site de cobertura local (o jornal impresso não sobreviveu), não votou em sua reeleição porque “ele roubou a cidade, era corrupto”. Uma realidade ficcional tinha se imposto aos fatos.
menos ainda – meros US$ 1,2 bilhão – foi especificamente destinado a projetos de justiça racial”, escreveram os autores.
Numa campanha de muito sucesso recentemente concluída nos EUA,20 onde a doação individual é dobrada pela de um fundo, o NewsMatch,21 do total das 303 organizações que participaram, as 50 maiores redações (16% do total) acumularam 63% dos recursos.
Ou seja, independentemente das soluções debatidas e vislumbradas até agora, o que se observa ainda é uma concentração de recursos em torno de poucos, e em sua maior parte com atuação e relevância nacionais ou regionais, excluindo iniciativas locais, e portanto sua sobrevivência, da conversa.
Em 2022, um trabalho produzido por diversos autores, entre os quais Julie Posetti, vice-presidente de pesquisa do ICFJ, e Anya Schiffrin, diretora de tecnologia, mídia e comunicações da Escola de Assuntos Internacionais e Públicos da Universidade de Columbia, apresentou 22 recomendações22 para que governos elaborem políticas públicas que ajudem a estabelecer um ambiente favorável à sustentabilidade da mídia e o acesso à informação, que inclui não apenas o desenho de políticas de financiamento, mas também regulações e outras estruturas que amplificam as possibilidades de se criarem outras fontes de recursos, vindas do setor privado, da filantropia e dos cidadãos.
Iniciativas de políticas públicas que têm em seu “espírito” o reconhecimento de que estamos precisando cuidar não só do jornalismo, mas também de um bem público – a informação –, não apareceram necessariamente como impacto do relatório acima, mas começam a ser experimentadas.
Nos Estados Unidos, um estudo da Nieman Foundation, da Harvard University,23 apresentou, em fevereiro, oito projetos de investimento público para fomentar iniciativas locais de informação nos municípios, distritos e estados nos Estados Unidos.
É o caso da Lei de Informação Cívica de New Jersey.24 Aprovada em 2018, foi a primeira lei estadual a criar uma política de fomento à informação local. Foram quatro anos de debates com organizações sociais do campo para criar um consórcio que hoje administra um fundo de US$ 3 milhões para investir não só em jornalismo, mas também em iniciativas que engajam o cidadão, por meio da informação compartilhada, a participar de decisões locais e a cobrar o poder público. “O modelo de consórcio foi baseado em outras instituições que gerenciam fundos, como é o caso das artes”, explica Mike Rispoli, diretor do Free Press, instituto que lidera o grupo.
O processo para aprovação da legislação, no entanto, não foi simples. O estado de New Jersey tinha um histórico de apoio à mídia local, que recebia recursos de filantropia e também dinheiro público para operar canais de transmissão de TV e rádio. Em 2011, o governo cortou o recurso e colocou as redes para leilão, autorizado em 2016, vendidas para o poder privado por US$ 332 milhões (apenas dois dos quatro canais à época25). A oportunidade política estava colocada à mesa: uma boa quantidade de dinheiro inesperado e um estado que se transformava em um deserto de notícias.
Rispoli, à frente do Free Press, e outras organizações da sociedade civil começaram a se mobilizar para brigar por uma fatia dos recursos que o estado iria receber pela venda das emissoras, no sentido de investir na reconstrução de um ecossistema de informação local.
O Consórcio de Informação Cívica, como o grupo foi depois nomeado, reivindicou, a princípio, US$ 100 milhões e recebeu uma contraproposta de US$ 10 milhões. Depois de meses de lobby, petições e audiências em comitês, foi entregue no escritório do distrito legislativo o primeiro rascunho do projeto de lei, finalmente aprovado em julho de 2018. Mas que, por causa da Covid-19, viu o recurso ser congelado e depois diminuir para os atuais US$ 3 milhões, que começaram a ser alocados em 2021.
“As pessoas começaram a entender por que a informação é importante, e o direcionamento da lei é claro: usar o dinheiro do governo para dar a notícia que o cidadão precisa para participar da democracia”, afirma Rispoli.
Na Europa, um grande projeto, financiado pela Comissão Europeia com 2 milhões de euros e liderado por quatro grandes organizações de jornalismo no continente (European Federation of Journalists, Centre for Media Pluralism and Media Freedom, International Media Support e Journalismfund.eu), tem como objetivo principal justamente gerar dados e análises que possam servir de base para o desenho de políticas públicas específicas para cada país ou região. Lançado em fevereiro último, um mapeamento de desertos de notícias e “áreas de risco para a informação local” deve ser publicado até o fim deste ano.
A iniciativa, chamada de “Local Media for Democracy”,26 reconhece, não apenas no título, a conexão estreita entre cidadão bem informado e o futuro dos sistemas democráticos, e afirma a necessidade de considerar o ecossistema. “A robustez desses ecossistemas de mídia também serve como um indicador significativo da cooptação [partidária] de mídia, um fenômeno crescente e preocupante na Europa”, diz o texto de lançamento, que explicita a importância de enfrentar a desinformação de uma outra forma.
Em um editorial publicado em março,27 o jornal inglês The Guardian também defendeu o jornalismo local – do qual ele não é exatamente um representante – como essencial para a sociedade, e por isso acrescentou, como também defendemos, que o “financiamento público é parte crucial desse mix [de soluções]”. Um relatório sobre o assunto28 publicado em janeiro pelo Parlamento inglês – agora fora da Europa e expressamente mais liberal – inclui recomendações como a de “explorar novos caminhos para que organizações de jornalismo local consigam registro de associação sem fins lucrativos e encorajar mais financiamento vindo da filantropia para o setor”.
A crise do modelo de negócios do jornalismo não é só um risco para a indústria em si. E, por isso, soluções mais imediatistas que têm como foco a sobrevida de um modelo que permanecerá em crise não serão suficientes para a construção democrática.
No Brasil, experiências nesse sentido também já foram tentadas ou estão em discussão. A Política Estadual de Incentivo às Mídias Locais, Regionais e Comunitárias,29 por exemplo, foi um projeto de lei aprovado em 2014 pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, mas que teve vida breve. Criado com o objetivo de fortalecer os pequenos meios de comunicação, ampliar a transparência na administração pública e democratizar o fluxo das informações direcionadas à população, o projeto estabelecia o direcionamento mínimo de 20% do orçamento de publicidade da Secretaria de Comunicação (Secom) para essas organizações.
Ele entrou em vigor para equilibrar um cenário desigual comum a outros estados. Em 2013, o estado registrava, segundo dados da Lei de Acesso à Informação publicados pelo site Sul21,30 um investimento entre 5% e 10% em meios locais, regionais e comunitários e de 80% a 95% nos quatro grandes grupos de comunicação do Rio Grande do Sul.
A lei foi inspirada num programa de 2012, criado pela Secom estadual, que havia cadastrado mais de 200 iniciativas de rádios comunitárias para redistribuir a verba publicitária do governo – o valor, que era pequeno, pagava em geral contas fixas, como aluguel e internet.
Mais recentemente, outros grupos no Brasil estão se mobilizando para resgatar aprendizados da gestão pública da cultura e de outras áreas que foram efetivos na distribuição de recursos e na garantia da autonomia dos territórios para executar políticas que asseguraram o exercício da democracia localmente.
Uma dessas conversas está sendo liderada pela Artigo 19, organização, de sede internacional, de defesa do direito e liberdade de expressão, que agora, junto a uma comissão criada dentro do Ministério da Justiça, pretende discutir uma forma mais abrangente de tornar o Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas (PPDDH) um projeto de lei, garantindo a criação de uma política pública com orçamento para proteção “às vozes dissidentes”.
Raísa Cetra, coordenadora do Programa de Espaço Cívico da Artigo 19, afirma que a “recente deterioração de políticas públicas gerou um déficit democrático de participação, não só nos conselhos municipais, mas também em protestos, inflamando ainda mais fenômenos de desinformação”. A ONG entende que é preciso ter um olhar mais sistêmico para esse cenário.
Todos esses esforços – de antigos a mais recentes – vêm no sentido de contribuir e trazer soluções que nos ajudem a construir um arcabouço democrático maior. No entanto, acreditamos que uma discussão anterior precisa entrar na pauta quando falamos sobre o que devemos proteger e fomentar, em especial por políticas públicas: a indústria ou a informação?
Cidadãos no Centro do Ecossistema
A democracia começa a ser construída a partir da proximidade do cidadão e da cidadã com as instâncias de poder local. Pode ser num conselho municipal, numa audiência pública ou durante uma campanha de vacinação. Em uma comunidade ou em grandes aglomerados urbanos, se tanto os problemas quanto as soluções aparecem sob a lente ampliada de desafios nacionais ou globais, nós nos sentimos impotentes – e nos desconectamos.
Isso, de maneira geral, é o que acontece. Por essa razão, o jornalismo local que atende aos critérios éticos da produção da notícia é tão importante. Mas, em tempos de sociedade do conhecimento, a definição do que é esse jornalismo ou sobre qual é a necessidade básica de informação que a população precisa para agir em prol do bem comum também merece reflexão – e, em nossa opinião, um alargamento. Para nós, a diferença está no que decidimos privilegiar nessa discussão: salvar o negócio, isto é, a indústria jornalística, ou a população e o acesso equitativo às informações (um bem público), a partir de um ecossistema no qual a audiência (os cidadãos) deve estar no centro.
Em O seu jornalismo é luxo ou necessidade, 31 o jornalista Harry Backlund, cofundador do City Bureau, um laboratório de jornalismo
local com base em Chicago, nos Estados Unidos, propõe olhar para a informação como olhamos para outros itens de necessidade vital e dá novo uso à Pirâmide de Maslow para exemplificar a teoria explicitada no artigo: “Na base, e em abundância, teríamos as informações essenciais, como acesso à moradia, alimentação, mobilidade e trabalho. No meio, as informações que ajudam as pessoas a se conectarem e se comunicarem para viver em sociedade. E no topo as informações aspiracionais, que nos engajam e nos instigam a saber mais sobre como o mundo funciona e o que deve ser repensado”.
Nesse sentido, se formos tentar classificar o tipo de jornalismo produzido em larga escala no Brasil, quase tudo parece estar no topo. O que Backlund e seus colegas propõem aqui é que precisamos de uma nova reflexão sobre o que entendemos enquanto jornalismo se formos levar a sério que ele deve cumprir sua função social e ser um pilar no acesso a direitos para todo cidadão e cidadã. Isso significa mudar a lente, mas mudar também a quantidade e a forma de financiar iniciativas que, sim, dão conta das necessidades básicas de informação da população. E isso pode ter os mais diferentes formatos e linguagens.
Mídia Cívica: Produção de Informação e Pertencimento Ao nos debruçarmos sobre esse campo, observamos que há uma diversidade imensa de soluções experimentadas. Muitas, inclusive, não se consideram ou não são consideradas iniciativas de comunicação ou jornalismo, apesar de trabalharem diretamente com produção e disseminação de informação local.
A ideia não é necessariamente nova e existem muitas nomenclaturas que foram criadas e utilizadas ao longo dos anos para definir esse tipo de proposta: jornalismo hiperlocal, jornalismo cidadão, comunicação comunitária, mídia cívica etc.
E é exatamente por isso que trazemos a discussão de ecossistema, já que nele podem caber desde organizações que praticam o jornalismo local a canais regulares de WhatsApp, passando por grupos de Facebook e outras formas e linguagens, inclusive “offline”, que, além de atenderem a critérios mínimos de produção da informação (ou seja, não são canais de propaganda), também estabelecem um vínculo com suas comunidades. Eles reconhecem a necessidade de envolvimento das pessoas no processo de produção da informação, seja a partir de suas necessidades ou de engajamento, ou diálogo com ela, até a participação direta, e acabam impulsionando a participação democrática dos cidadãos nos locais onde vivem pelo sentimento de pertencimento e conhecimento. O escritor e líder indígena Ailton Krenak, em um artigo sobre ecologia política,32 define bem, para nós, essa visão: “Gente, lugar e jeito de estar no lugar compõem um todo”.
Não faltam exemplos atuando a partir dessa lógica. O ex-correspondente da BBC Shubhranshu Choudharay33 lidera há mais de uma década uma organização, a CGNet Swara,34 que sustenta a produção e circulação de informação local na área rural do estado indiano de Chhattisgarh, principalmente dedicada às populações nativas. As histórias reportadas circulam por áudio, nos telefones celulares (via aplicativo) ou em postos telefônicos, para áreas mais remotas. A imprensa regional, que cobre em hindi as notícias, não alcançava a maioria da população nativa ali, que fala outras línguas. A circulação das traduções e de outras informações produzidas pelos habitantes, em áudio, aumentou o nível de engajamento dessas comunidades em objetivos coletivos, conta o jornalista. Em Moçambique, o FORCOM – Fórum Nacional de Rádios Comunitárias35 funciona desde 2004 para reunir e apoiar sua rede. Segundo a diretora-executiva,, a jovem jornalista Ferosa Chauque Zacarias, a quase totalidade das 51 rádios comunitárias que fazem parte do grupo é liderada de forma voluntária por profissionais não necessariamente treinados em jornalismo. De novo, um dos objetivos das rádios é fazer com que as informações importantes para o país sejam debatidas e levadas a conhecimento de audiências apartadas dos grandes centros.
A organização Mutante,36 sediada na Colômbia, também promove um outro tipo de jornalismo: eles produzem informação – nos mais diversos formatos, que vão de reportagens de grande envergadura e manuais a posters para campanhas – para municiar sua audiência de conhecimento para que participe dos debates nacionais. Uma das mais recentes foi sobre a discussão da mudança da legislação do aborto no país.
Ainda no Brasil, a Rede Wayuri de Comunicadores Indígenas,37 durante as eleições, lançou um projeto de combate a notícias falsas para mais de 750 comunidades do Alto Rio Negro, via áudio por WhatsApp e nas rádios-postes – em mais de oito línguas locais. O projeto ainda forma novos comunicadores em cada território para que possam se tornar correspondentes.
Esse coletivo de comunicadores indígenas é uma das iniciativas identificadas pela Rede Cidadã InfoAmazônia,38 que conecta comunicadores locais e mídias regionais da Amazônia Legal para cocriar e difundir conteúdos com temas socioambientais produzidos no território amazônico. “A relação dessas organizações com seus territórios é superimportante para a informação circular. São eles que sabem os melhores formatos de como organizar, produzir e distribuir os conteúdos”, explica Débora Menezes, coordenadora da rede.
As iniciativas são muitas. Nos Estados Unidos, um grupo se uniu para fazer um diagnóstico de características desse “novo” ecossistema e lançou o Roadmap for Local News.39 O relatório busca incluir organizações que ficavam de fora do que é considerado tradicionalmente como “jornalismo local”, mas que ainda assim se dedicam a informar o público, com foco no engajamento comunitário e em ampliar seu acesso (e direitos de participação) ao lugar onde moram. Segundo o documento, essas organizações priorizam levar às pessoas, que nunca foram bons “mercados” para notícias comerciais, informações em um meio com o qual elas se envolvem naturalmente (sejam aplicativos de texto/e-mail/vídeo etc.).
Em 2020, o relatório anual sobre o mundo digital de notícias, do Reuters Institute, publicou um capítulo dedicado ao jornalismo local40 que incluía o que eles chamaram, em inglês, de non-news media sources
Equipar as pessoas para lidar com um mundo em constante transformação tecnológica e informacional é um projeto de distribuição de poder.
Entre os países pesquisados – e o Brasil estava entre eles –, quase um terço (31%) da amostra de respondentes diz ter usado grupos ou páginas locais das redes sociais (por exemplo, Facebook ou WhatsApp) como fonte de notícias locais. As comunicações pessoais de outros residentes, vizinhos, amigos e/ou familiares eram vistas como fontes importantes de informação para cerca de um quarto (28%), enquanto 13% diziam que consomem informações vindas diretamente de instituições locais.
No Brasil, o recém-lançado Mapa da Cajueira41 faz um levantamento do jornalismo independente existente nos estados do Nordeste. “Defendo uma visão mais ampla do jornalismo local que contemple projetos com caráter informativo, que nem sempre são reconhecidos dentro dos modelos clássicos do jornalismo”, afirma Mariama Correia, idealizadora do projeto.
Segundo Mariama, que também atua como pesquisadora do Atlas da Notícia no Nordeste, há uma invisibilização dessas iniciativas no censo. “Atualmente, o Atlas não considera rádios comunitárias como veículos jornalísticos, embora eles sejam tão importantes do ponto de vista informativo para seus territórios”, conta.
A mesma lógica se aplica ao levantamento desenvolvido pela Énois, em 2022. O Mapa de Jornalismo Local42 contemplou veículos e canais de difusão cultural nos bairros e periferias da capital paulista e dos 38 municípios que compõem a região metropolitana de São Paulo. Do total de iniciativas mapeadas, mais de 75% utilizam plataformas digitais, como perfis em redes sociais, sites e blogs, como segmento principal de atuação para distribuição de conteúdo. E grande parte delas atua a partir de pautas sugeridas pela própria comunidade.
É preciso voltar a olhar para a informação como um direito essencial a nossa sobrevivência como humanidade. Também é preciso, a partir dessa lente, entender que a indústria do jornalismo não é capaz de garantir o acesso à informação de forma equânime e que, portanto, precisamos identificar quem mais faz parte desse ecossistema para, então, pensar em formas de garantir a existência e apoiar o desenvolvimento dessas iniciativas.
Notas
1 Agência Mural. Disponível em: <agenciamural.org.br>. Acesso em: 30 maio 2023.
2 Énois. Disponível em: <enoisconteudo.com.br>. Acesso em: 30 maio 2023.
3 O projeto com o carro de som pode ser conferido em: <instagram.com/p/CI5-jWPAiZk/>. Acesso em: 30 maio 2023.
4 Pulso da Desinformação. Disponível em: <igarape.org.br/pulso-da-desinformacao/>. Acesso em: 30 maio 2023.
5 Atlas da Notícia. Disponível em: <atlas.jor.br/noticias/projor-e-volt-data-lab-anunciam-sextaedicao-do-censo-atlas-da-noticia/>. Acesso em: 30 maio 2023.
6 Columbia Journalism Review, “Michael Tubbs on disinformation, racism, and news deserts”. Disponível em: <cjr.org/special_report/michael-tubbs-disinformation-racism-news-desertsstockton-california-209-times.php>. Acesso em: 30 maio 2023.
7 Democracy Fund, “How we know journalism is good for democracy”. Disponível em: <democracyfund.org/idea/how-we-know-journalism-is-good-for-democracy/>. Acesso em: 30 maio 2023.
8 Reuters Institute, “Notícias para os poderosos e privilegiados: como representações deturpadas ou insuficientes de comunidades desfavorecidas abalam a confiança delas nas notícias”. Disponível em: <reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/noticias-para-os-poderosos-e-privilegiadoscomo-representacoes-deturpadas-ou-insuficientes-de>. Acesso em: 30 maio 2023.
9 Nina Weingrill, “Por que é importante falar sobre Coronavírus – e outras coisas –localmente”. Disponível em: <ninaweingrill.medium.com/porque-%C3%A9-importantefalar-sobrecoronav%C3%ADrus-e-outras-coisas-localmente-406251b9c47b>. Acesso em: 30 maio 2023.
Significa investir em atores e infraestruturas que garantam a produção, a circulação e o acesso de informações necessárias à vida individual e coletiva nas comunidades e cidades. Significa pensar que a desigualdade informacional, se não enfrentada de maneira sistêmica, não desaparece e cria mais divisões – cujo impacto a médio prazo é a corrosão das democracias.
Mas significa também, já que estamos falando de problemas e soluções sistêmicas, que todos os stakeholders são chamados a agir. A filantropia, ampliando e descentralizando os investimentos de forma que promovam um olhar mais complexo para o campo; os governantes, desenhando políticas públicas de fomento direto a esse ecossistema; e os cidadãos e as cidadãs, se engajando em iniciativas em seus territórios. Esse muro – que parece invisível – entre quem tem acesso à informação e quem não tem cria mundos paralelos, incomunicáveis.
Do ponto de vista do fortalecimento e da manutenção dos sistemas democráticos, não há solução possível se ela não parte do nível local de participação cidadã.
Fomentar uma lógica autônoma de produção e consumo de informação, a partir dos territórios, a partir do local, é um ciclo virtuoso que contribui a curto prazo para a construção democrática – que inclui processos eleitorais mais saudáveis – e a médio e longo prazos também para a sustentabilidade financeira dessas iniciativas, visto que elas estarão imbricadas na vida cotidiana da população (ou seja, sua audiência). Uma vez que as pessoas entendem o valor da informação para seu dia a dia, têm acesso àquilo que estão buscando e são impactadas pelas transformações que ocorrem a partir da ação/participação local, elas também estão mais propensas a contribuir e até apoiar financeiramente essas iniciativas.
E, como dissemos mais acima, nada disso é novo. No limite, equipar as pessoas para lidar com um mundo em constante transformação tecnológica e informacional é um projeto de distribuição de poder. E tem a ver com enfrentar a desigualdade de produção e acesso a um bem público – a informação.
Temos eleições municipais ano que vem no Brasil, lembra? E teremos quase 60 mil chances de fazer diferente. Mas é preciso começar a agir já. Amanhã será tarde demais. n
10 Jamelle Bouie. Disponível em: <jamellebouie.net/>. Acesso em: 30 maio 2023.
11 Jamelle Bouie, “Disinformation not the real problem of democracy”. Disponível em: <realclearpolitics.com/2023/03/12/disinformation_not_the_real_problem_with_ democracy_593554.html>. Acesso em: 30 maio 2023.
12 Unesco, “Safeguarding freedom of expression and access to information: guidelines for a multistakeholder approach in the context of regulating digital platforms”. Disponível em: <unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000384031.locale=em>. Acesso em: 30 maio 2023.
13 Ajor – Associação de Jornalismo Digital. Disponível em: <ajor.org.br>. Acesso em: 30 maio 2023.
14 Ajor, “PL das Fake News põe em risco pluralidade do jornalismo brasileiro”. Disponível em: <ajor.org.br/pl-das-fake-news-poe-em-risco-pluralidade-do-jornalismo-brasileiro/>. Acesso em: 30 maio 2023.
15 Columbia Journalism Review. Disponível em: <cjr.org/business_of_news/australia-pressuredgoogle-and-facebook-to-pay-for-journalism-is-america-next.php/>. Acesso em: 30 maio 2023.
16 Columbia Journalism Review, traduzido em Ajor. Disponível em: <ajor.org.br/australiapressiona-google-e-facebook-a-pagarem-por-jornalismo-seriam-os-eua-os-proximos/>. Acesso em: 30 maio 2023.
17 Media Funders. Disponível em: <maps.foundationcenter.org>
18 Richard Tofel, ProPublica. Disponível em: <niemanlab.org/2022/11/foundations-give-a-lot-ofmoney-to-journalism-intermediaries-maybe-the-money-should-go-to-news-outlets-instead/>. Acesso em: 30 maio 2023.
A lista completa com as referências citadas no artigo está disponível em ssir.com.br
Ilustrações: Samara Romão
As relações são fundamentais para a mudança coletiva e para desenvolver laços profundos de empatia que ajudem a encontrar soluções sistêmicas para os problemas sociais.
s vezes perdemos de vista uma verdade simples sobre os sistemas: eles são formados por pessoas. Apesar de todas as estruturas e ferramentas à nossa disposição e de todo o nosso aprendizado prático, as abordagens puramente técnicas e racionais não conseguem incidir sobre as dinâmicas de poder ou alterar crenças enraizadas em nossos sistemas. Se a maioria dos esforços de mudança coletiva não leva as pessoas a mudar fundamentalmente sua consciência e seus modelos mentais, então o sistema do qual fazem parte também não mudará de maneira significativa.
No entanto, nas últimas duas décadas, a opinião predominante entre muitos financiadores, diretores de conselho de administração e líderes institucionais tem sido a de que só se pode gerar impacto social por meio de resultados predeterminados e quantificáveis. Porém, se os últimos três anos e suas divisões e crises inter-relacionadas, devastadoras e cada vez mais profundas nos ensinaram alguma coisa, é que os problemas complexos e adaptativos desafiam modelos lógicos e soluções exclusivamente técnicas e redutoras. Para transformar nossos sistemas, é hora de investir nossa energia coletiva em abordagens mais emergentes e relacionais.
As relações são a essência e a trama da mudança coletiva. Como consequência, aqueles que facilitam esforços de mudança coletiva devem apoiar o desenvolvimento de relações que gerem verdadeira
empatia e compaixão, de forma que possam produzir conexões autênticas, em especial entre participantes de diversas origens. Essas conexões mais profundas podem gerar novos caminhos de inovação para enfrentar nossos profundos problemas sociais.
Um exemplo é o trabalho da organização Dunna, na Colômbia, criada em 2010 para conceber, implementar e avaliar estratégias alternativas de construção da paz. Em seu primeiro projeto, a Dunna desenvolveu um modelo para tratar o transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) de ex-combatentes de um grupo armado ilegal que lutou na guerrilha. A desmobilização do grupo teve início em 2006 e desde então havia uma alta prevalência de TEPT entre seus membros. A Dunna começou a trabalhar com eles para responder aos enormes desafios de romper ciclos profundos de violência e alcançar uma paz real e sustentável.
Desde então, a organização aplica abordagens holísticas e emergentes com múltiplos atores do sistema, enfrentando e curando traumas individuais e coletivos e gerando a empatia e a capacidade de agência necessárias para reconstruir e transformar o tecido social. Tais abordagens – que foram avaliadas por entidades independentes como a Universidad de los Andes, de Bogotá, na Colômbia – incluem ferramentas como práticas restaurativas e técnicas psicofísicas. São estratégias universais que em muitos casos foram esquecidas ou eram praticadas apenas por comunidades indígenas.
Os espaços seguros estabelecidos pela Dunna por meio de círculos restaurativos que propiciam a construção de uma nova trama social são um exemplo. Essa prática parte de uma configuração circular em

que todos os participantes – incluídos os facilitadores – se comunicam horizontalmente, o que possibilita a cada pessoa ser vista e ouvida e que sua experiência de vida seja validada sem julgamento pelos demais membros da comunidade. Nesses círculos restaurativos, o facilitador promove a escuta ativa e o compartilhamento a partir do coração em um espaço confidencial, investido do ritual e da sacralidade da cura coletiva. À medida que as experiências são compartilhadas no círculo, os facilitadores acompanham os participantes no trânsito das emoções que surgem no espaço com o uso de métodos para conectar mente e corpo.

Como demonstra o trabalho da Dunna, progredir de forma significativa nos complexos desafios de nosso tempo requer formas totalmente diferentes de trabalhar em conjunto e que priorizem as práticas relacionais. De acordo com pesquisas e conversas com profissionais envolvidos nessas práticas de mudança transformadora, especialmente aquelas que provêm de culturas não dominantes, as formas de trabalho mais radicais e relacionais em geral apresentam cinco qualidades em comum: 1) engajam-se em um trabalho relacional profundo; 2) cultivam um espaço para a cura; 3) convidam à serendipidade e ao sagrado; 4) atendem à mudança interna e externa; e 5) transformam as dinâmicas de poder. Na prática, essas qualidades nunca estão sozinhas, mas funcionam de maneira íntima e inter-relacionada e, assim, apoiam a transformação dos sistemas.
Convidar à Serendipidade e ao S agrado Transformar as Dinâmicas de Poder
Engajar em um Trabalho Relacional Profundo Cultivar um Espaço para Curar
Atender à Mudança Interna e Externa
Tudo aquilo que sabemos sobre sistemas nos diz que as relações ocupam lugar central. A maioria dos líderes da mudança coletiva adere a este mantra: se você quer mudar o sistema, traga o sistema para a sala. Como disse Brenda Zimmerman, a teórica de sistemas falecida em 2014: “A unidade de análise mais importante em um sistema não é a parte (por exemplo, o indivíduo, a organização ou a instituição), mas a relação entre as partes”. Quando falamos em trabalho relacional profundo, nos referimos a uma forma fundamentalmente diferente de estar em relação. Isso começa com a criação de ambientes seguros em que os participantes, em especial
aqueles sem poder institucional, podem se expressar livremente e ser vulneráveis, conectar-se uns com os outros e sentir sua humanidade comum.
Com atuação em territórios de violência complexa na América Latina e em outras partes do mundo, a fundação colombiana TAAP, utiliza as artes e a comunicação para o desenvolvimento e o aprendizado. Por meio delas, cria oportunidades de expressão e desenvolve potencial criativo para que as comunidades possam viver em paz e alcançar o bem-estar. Um exemplo é o Pazificarte, um programa que capacita jovens na remota região de Chocó para que se tornem líderes de suas comunidades e resolvam conflitos por meio de técnicas criativas de comunicação e mediação.
Inicialmente, a fundação implementou programas destinados a promover a educação e o desenvolvimento profissional de comunidades vulneráveis da Colômbia. No entanto, com o passar do tempo, começou a perceber que os avanços retrocediam quando as pessoas voltavam para seu bairro, sua casa ou sua escola, onde continuavam sofrendo alta discriminação e violência. “O progresso não pode ser separado em caixinhas. Se não houver harmonia entre as pessoas de uma comunidade, não pode haver progresso e paz. Tudo está interligado”, explica Gaby Arenas de Meneses, diretora e fundadora da TAAP.
A organização decidiu então começar a oferecer métodos para mudar completamente as relações entre diversos atores ao apoiar formas de expressão criativa e de desenvolvimento pessoal que possibilitam pessoas de origens muito diferentes descobrirem sua humanidade comum. A arte cria espaços para que as pessoas se relacionem de forma radicalmente diferente, tenham acesso a sentimentos reprimidos pelo medo e consigam criar um senso de história e de realidade do qual todos se sintam parte. Os programas da TAAP promovem a tolerância e a empatia, capacitam as comunidades a expressar conflitos de maneira saudável e mudam os padrões de comunicação – antes baseados na ausência e na agressão. Esses programas foram criados para que diferentes atores sociais possam abordar questões como respeito, diversidade e tolerância, para que consigam expressar suas ideias sem constrangimentos e para que sejam capazes de construir relações mais profundas ao destacar as histórias que têm em comum.
Para Gaby Arenas, “só pode haver mudança sistêmica quando você muda as pessoas que fazem parte do sistema. Pode-se mudar tudo o que for estrutural, mas se as pessoas continuarem a se comportar da mesma maneira, vão encontrar a forma de levar esses velhos padrões à nova estrutura”.
2. Cultivar um Espaço para Curar
O trauma resolvido é uma força que devemos levar em conta na maioria dos problemas sistêmicos atuais – se não em todos. Além disso, o trauma é muito mais comum do que nós que estamos
Ofoco deste artigo é o que chamamos de trabalho relacional para a mudança de sistemas – um esforço que requer o envolvimento de muitas pessoas no sistema e que procura apoiar uma transformação coletiva na consciência.
Lidar com as causas profundas dos problemas so ciais e ambientais em nível comunitário, regional ou na cional exige mais que programas específicos. A empreitada requer mudanças mais profundas nas estruturas sistêmicas, nas políticas e na cultura que produzem consistentemente –e muitas vezes foram concebidas para produzir – resultados desiguais. O trabalho para alterar as condições em níveis mais profundos é frequentemente designado por mudança de sistemas.
Embora o interesse pela mudança de sistemas esteja crescendo entre os agentes da transformação social, o conceito continua sendo pouco compreendido. A estrutura de seis condições, também chamada de The Water of Systems Change (A Água da Mudança de Sistemas), da qual um de nós é coautor [John Kania], parece ter ajudado muitos profissionais que trabalham com a mudança social e financiadores a entender melhor a mudança de sistemas.
Parte do valor do esquema (veja ilustração acima) é que ele ilustra a mudança de sistemas em três níveis de explicitação. O superior é a mudança estrutural: mudanças nas políticas, práticas e fluxos de recursos. Esse nível é explícito, o que significa que as pessoas envolvidas no sistema podem facilmente ver, identificar e, muitas vezes, até quantificar essas condições.
O nível seguinte centra-se na mudança relacional – relações e conexões e dinâmicas de poder entre pessoas e organizações. Tende a ser semiexplícito, na medida em que algumas vezes as pessoas conseguem ver essas dinâmicas e, em outras, elas ocorrem fora da visão de alguns atores do sistema.
O nível mais profundo é a mudança transformadora – os modelos mentais, as visões do mundo e as narrativas que moldam nossa compreensão dos problemas sociais. Esse nível é
Políticas Práticas Recursos
Relacionamentos e Conexões
Dinâmicas de Poder
Modelos Mentais
Mudança Estrutural (explícita)
Mudança Relacional (semiexplícita)
Mudança Transformadora (implícita)
tipicamente implícito, o que significa que acontece para além de nosso conhecimento consciente, e, ainda assim, tem o maior poder de transformar o comportamento individual e do sistema a longo prazo.
Quando se envolvem no trabalho de mudança de sistemas, muitas pessoas e organizações investem a maior parte de seu tempo e recursos na tentativa de mudar as condições em nível estrutural. Embora as soluções estruturais sejam importantes, mudar a estrutura sem mudar as relações, a dinâmica de poder e os modelos mentais pode, na melhor das hipóteses, levar a soluções ineficazes ou temporárias e, na pior, deixar o sistema vulnerável à tendência de voltar a seu equilíbrio inicial. Isso é particularmente verdade se as soluções estruturais foram desenvolvidas num contexto em que os grupos tradicionalmente marginalizados não tinham voz. Os esforços de mudança social devem, portanto, trabalhar concomitantemente nos três níveis de mudança de sistemas, a fim de produzir uma mudança mais sustentável e transformadora. Esperamos que a proposta a partir de relações que trazemos possa ajudar agentes de transformação social a catalisar os esforços de mudança de sistemas do incremental para o transformacional.
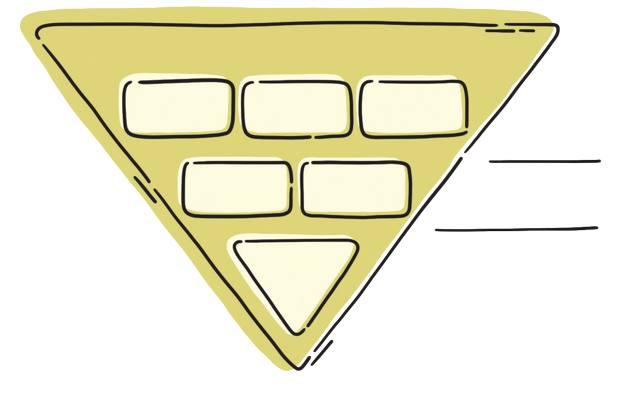
envolvidos no trabalho de mudança coletiva somos capazes de reconhecer, especialmente quando trabalhamos em comunidades atormentadas por histórias de desigualdade e violência que parecem não ter fim.
Em países como a Colômbia, inundados pelo conflito e pela guerra, foram criados padrões de relações baseados na hipervigilância e na hiperagressão, que permeiam o sentido de ser de todos os indivíduos. “Há uma impossibilidade de tornar visível o invisível. Não há formas, não há canais para fazer essa transição. Há muito silêncio e estamos muito acostumados a reprimir”, explica María Adelaida López, cofundadora da Dunna. Ela acrescenta: “Se não tornarmos o invisível visível, se não começarmos a tratar do nosso trauma cole-
tivo e os sintomas da violência visando a cura, não haverá sustentabilidade nem possibilidade de progresso econômico ou político”.
O trabalho da Dunna consiste justamente em trazer à tona esse trauma de diversos atores envolvidos no conflito por meio de métodos profundos e muitas vezes pouco convencionais. Trata-se de ajudar as pessoas a avançar, a realmente se engajar na reconciliação e a começar a curar dentro de sua comunidade. Por exemplo, no remoto município de Viotá, localizado a três horas da capital Bogotá, a Dunna trabalha com um grupo que inclui comparecientes (pessoas acusadas de terem cometido um delito ou crime de guerra durante o conflito armado coberto pela Jurisdição Especial para a Paz, órgão governamental criado pelo Acordo de Paz para administrar a justiça transna-
cional). O grupo também inclui combatentes desmobilizados, policiais e militares, e implementa entre eles estratégias de comunicação, como totens de palavras e habilidades de escuta ativa. Essa abordagem foi concebida para ajudar os participantes a administrar os efeitos somáticos do trauma que se manifestam pelos seus corpos, criando assim as condições necessárias para estabelecer relações saudáveis com os demais e poder reparar o tecido social. “Para criar uma verdadeira cura, você precisa encontrar algo em comum com identidades diferentes da sua”, diz Natalia Quiñones, também cofundadora da Dunna. “Você precisa fazer um trabalho minucioso, e durante muito tempo, para que todas essas pessoas que viveram tanta crueldade e medo aceitem que podem existir novas maneiras de reconstruir sua comunidade.” Nesses espaços, é fundamental o uso de práticas destinadas a fazer com que todos os participantes se sintam seguros e protegidos. “Depois de chegar a uma sensação de segurança, as práticas descem ao âmbito da mente, das emoções e do corpo para estabelecer uma cura profunda, em que é possível começar a ouvir os outros e curar os sintomas da violência em nossos sistemas, incluídos o silêncio e a falta de reconhecimento”, aprofunda Natalia.
O impacto desse trabalho foi tal que a Jurisdição Especial para a Paz recorreu à Dunna para desenvolver um modelo de ações restau-
conjunto, assim como a encontrar inspiração na arte, no silêncio ou em práticas contemplativas como a meditação. Embora os métodos específicos possam variar em função do contexto local, o que caracteriza essa qualidade entre múltiplas culturas é a intenção de ajudar os participantes a estar totalmente presentes em seu trabalho e uns com os outros. Além disso, trata-se de fundamentar o trabalho, individual e coletivo, no amor.
Lauren Díaz é diretora-executiva da Fundación Nueva Oportunidad, da Costa Rica, dedicada a processos de reinserção social de pessoas privadas de liberdade por meio de capacitação profissional, apoio à criação de microempresas e desenvolvimento pessoal ligado a atividades artísticas e de saúde mental. Um exemplo desse trabalho é o modelo de negócio desenvolvido com um grupo de detentos do Centro Reynaldo Villalobos, que consiste na concepção, produção e comercialização de artigos confeccionados com materiais recicláveis doados por empresas privadas.
Lauren e sua equipe trabalham a maior parte do tempo dentro de prisões e penitenciárias, lugares frequentemente desumanizadores e repletos de traumas. Ela acredita, porém, que é possível gerar espaços cheios de amor, segurança e humildade. Lauren diz que, para criar tais espaços, “devemos deixar de lado nossos preconceitos e nos sincronizar com a magia do momento, tratando cada interação como um momento sagrado, no qual, às vezes, podemos testemunhar a essência de cada ser”. Quando planeja uma visita a uma pessoa privada de liberdade, por exemplo, Lauren diz que procura descansar bem e estabelecer a intenção de abrir sua alma. Uma vez lá, participa de rituais para agradecer o privilégio de estar em comunidade.
rativas com vários atores do conflito. Essa decisão é consequência do reconhecimento de que o êxito do Acordo de Paz não depende apenas do estabelecimento de recursos e estruturas de reintegração e convivência, mas que também é necessário estabelecer novos padrões nas relações que permitam curar coletivamente e que deem espaço para transformar os modelos mentais enraizados depois de décadas de violência e guerra.
Das cinco qualidades, convidar ao sagrado e dar boas-vindas ao acaso é talvez a mais difícil de explicar. Isso se deve, em grande parte, ao fato de que as pessoas muitas vezes equiparam a palavra “sagrado” à religião ou pensam que se refere a iniciativas baseadas na fé. Ao contrário, trazer sacralidade aos processos não exige ou pressupõe que todos os envolvidos tenham uma orientação espiritual.
No contexto do impacto coletivo, essa qualidade significa estabelecer um sentido que incentive todos os envolvidos no trabalho relacional a abrir seus corações a uma fonte universal ou à graça. O uso de rituais, histórias pessoais e narrativas comunitárias pode ajudar os grupos a estabelecer um tom sagrado para seu trabalho
A Nueva Oportunidad também trabalha para melhorar as relações e as condições de vida nas prisões, criando espaços para o entendimento e a aproximação entre os vários atores do sistema penitenciário. Lauren pede às instituições e àqueles que exercem o poder que se afastem das soluções herdadas e pouco questionadas e deem espaço a essa magia. Ela nos convida a “nos desviar um pouco da norma para poder construir soluções com as pessoas tendo como base o amor: amor pelo que estamos fazendo e pelo que devemos à vida, e dar espaço ao espírito e à magia do que é possível”.
As pessoas que trabalham com esforços de mudança coletiva são atores que tentam mudar os sistemas, e essa mudança deve começar de dentro de cada um. O processo parte do exame de visões parciais, suposições e pontos cegos, acertando as contas com os privilégios e nosso papel na perpetuação das desigualdades e criando a capacidade de deixar de lado a necessidade de controle. A mudança interna também é um processo relacional e reiterativo: o indivíduo muda o coletivo, o coletivo muda o indivíduo e assim sucessivamente. Essa interação é o que nos permite gerar conhecimento, criar oportunidades e enxergar o potencial de transformação.
Os problemas complexos e adaptativos desafiam modelos lógicos e soluções exclusivamente técnicas e redutoras. (...) É hora de investir nossa energia coletiva em abordagens mais emergentes e relacionais.
Como essa mudança sistêmica se parece na prática? Por onde começar?” Essas são perguntas que frequentemente nos fazem sobre esse tema.
Um bom ponto de partida é explorar as nossas intenções. A razão pela qual nos empenhamos na mudança dos sistemas a partir das relações é tão importante como a forma como o fazemos. Desejamos nos envolver com ela porque reconhecemos que nossas formas atuais de trabalhar em conjunto não são suficientemente equitativas ou libertadoras. A esperança e o amor devem orientar o modo como nos ouvimos uns aos outros; devem alimentar nosso diálogo e orientar o modo como usamos nosso poder pessoal e institucional. A nossa vontade de fazer um trabalho interior sobre nós mesmos é o que nos permite abordar o trabalho relacional com maior abertura, flexibilidade e humildade.
Em seguida, temos de analisar a forma como nos apresentamos e nos relacionamos com colegas, parceiros e beneficiários. Como nos envolvemos no diálogo, exercemos nosso poder e cocriamos soluções? Quais são nossos valores mais profundos e até que ponto, e com que frequência, incorporamos esses valores? As respostas a essas perguntas são radicalmente diferentes quando damos prioridade ao desenvolvimento de relações com outros atores do sistema e quando estamos em parcerias transacionais.
Finalmente, como o nome indica, a mudança de sistemas a partir das relações exige o reconhecimento da interdependência de nossa existência, não só entre nós, mas também com nossa história coletiva e a energia que nos rodeia. Essa mudança demanda estarmos abertos à emergência, ser responsáveis pela energia que trazemos para o sistema e ser humildes quanto a nosso lugar no mundo.
Nós nos envolvemos nessa mudança por meio de uma série de práticas que sabemos não serem nunca perfeitas e, no entanto, reconhecemos que sua busca é suficientemente sagrada para valer a pena a viagem.
Algumas dessas práticas são:
• Honrar o fato de estar em comunidade recorrendo a rituais Criar rituais é uma forma de preparar o coração e expressar a intenção de estar numa relação autêntica com os parceiros para ver e mudar o sistema. Marcar o início e o fim de seu tempo em comunidade com rituais infunde a colaboração com reverência e respeito e apoia os participantes a estarem totalmente presentes no trabalho e com os outros.
• Liderar com a cabeça e o coração. Desaprender a dependência excessiva que a cultura dominante tem em relação às métricas e à crença em resultados imediatos. Aprender a se sentir confortável com a incerteza e a emergência. As abordagens racionais têm um espaço e um objetivo no trabalho de mudança de sistemas, mas as abordagens racionais, por si só, não conduzem à transformação.
• Explorar e aprender sobre o trauma coletivo e a cura. Quando mudamos os sistemas abordando apenas suas condições, sem olhar para a razão pela qual se comportam de forma tão injusta e desigual, optamos por ignorar a dor que contêm e a mágoa de onde surgiram. Aprender sobre como o trauma se manifesta tanto nos indivíduos como nos coletivos talvez preencha o trabalho de mudança de sistemas com empatia e compaixão e abre a possibilidade de cura.
• Comprometer-se continuamente a lidar com as dinâmicas de poder, especialmente se tiver privilégios ou estiver num papel com autoridade. O comprometimento com o equilíbrio das dinâmicas de poder significa que falamos abertamente sobre o poder, aprendemos sobre as formas insidiosas em que muitas vezes funciona e abraçamos as formas libertadoras em que pode ser aproveitado.
• Utilizar o storytelling para criar significado em conjunto. A narração de histórias para a mudança de sistemas envolve diversos grupos, honrando sua tradição, criando um veículo para sonharem juntos e expressando seus valores para a mudança.
Embora essas práticas não sejam exaustivas, são passos iniciais que as organizações e os esforços coletivos podem dar na longa jornada de transformação dos nossos sistemas no sentido da equidade e da justiça.
Nicola Gryczka Kirsch é cofundadora do Social Gastronomy Movement (SGM), que tem filiais em mais de 60 países (muitas delas na América Latina). O SGM se dedica a levantar as vozes de lideranças comunitárias e dar visibilidade global às iniciativas locais, cocriando espaços de aprendizado e intercâmbio de melhores práticas. Além disso, fornece suporte para esforços coletivos de mudança. Um exemplo é o SGM Fund, um programa que apoia sua rede de membros e financia organizações que se dedicam a garantir a segurança alimentar e a examinar as causas fundamentais da fome em comunidades locais.
O SGM se fundamenta no poder dos alimentos como ferramenta para unir as pessoas e transformar realidades locais,
enfrentar a desigualdade social e restaurar coletivamente o planeta. Como explica Nicola, a comida é um conector, um veículo que leva as pessoas a se relacionarem consigo mesmas e com as demais no espaço que compartilham. A comida não apenas nutre nosso corpo, mas também nossas lembranças mais profundas. Quando nos sentamos à mesa ou no chão para compartilhar uma refeição em comunidade, nivelamos nossa consciência com aqueles que nos rodeiam, nos libertamos e nos regozijamos. Nesses momentos emerge uma parte autêntica de nós mesmos.
O SGM guia os participantes em meditações que abordam o significado e os sentimentos associados à comida, levando-os a recordar as primeiras vezes que colheram frutas ou jantaram com
parentes, com destaque para memórias de sabores perdidos ou de momentos em que os alimentos não eram de fácil acesso. O SGM emprega essas práticas antes de iniciar reuniões colaborativas para ajudar as pessoas a se apresentarem de forma mais autêntica e a se abrirem para conexões cheias de afeto e vulnerabilidade. Além disso, para ajudar os participantes a colaborar com todo o seu ser, em vez de se concentrarem nos títulos e na bagagem profissional que costumam trazer consigo, o SGM utiliza técnicas simples, como pedir que as pessoas sejam chamadas apenas pelo primeiro nome,
iniciar sessões preparando e apreciando um jantar juntos ou fazer reuniões em e com comunidades tradicionalmente marginalizadas. Tais métodos levam os participantes dos encontros nacionais do SGM a ver o lado humano de cada um, até mesmo entre pessoas que trabalham para organizações tradicionalmente opostas, como o slow food (comida lenta) e o fast food (comida rápida).
Kirsch recorda momentos em que importantes chefs ou empresários participaram de uma refeição comunitária com os moradores de locais que visitaram, compartilhando receitas e histórias sobre os alimentos e suas famílias. Depois dessas experiências, os chefs muitas vezes modificam seus cardápios, comprometendo-se a buscar maior sustentabilidade, os empresários aumentam seu apoio ao desenvolvimento alimentar do ponto de vista da solidariedade, e não da caridade, e os membros da comunidade aumentam seu senso de dignidade e poder. “Experimentar a realidade de outra pessoa cria uma empatia que transforma”, afirma Nicola. “Há uma grande diferença entre analisar um problema no papel e ver como a fome é sentida por quem passa por ela. Quando você entra nas favelas do Brasil, ouve e vê a realidade e as circunstâncias das pessoas, isso toca seu coração. Se toca seu coração, você não pensa, mas sente e, assim, você se transforma.”
Os esforços de mudança coletiva devem ser intencionais para não replicar os desequilíbrios de poder dos sistemas em que atuam. Para Gaby Arenas de Meneses, da TAAP, a chave da mudança sistêmica é penetrar e transformar as dinâmicas de poder profundamente enraizadas que privilegiam a individualidade e promovem a concentração da tomada de decisões nas mãos de poucas pessoas.
Para cumprir seu papel de ponte, a TAAP inicia cada colaboração com a premissa de que nenhuma organização pode resolver um problema social por si só. A partir disso, os líderes de cada orga-
nização se comprometem com a intenção de, em primeiro lugar, servir para a colaboração em vez de tentar extrair valor para sua própria organização. Gaby comenta: “Nós, que trabalhamos pela mudança social, levamos anos para deixar de dizer ‘minha organização e meu projeto’. E, em algumas ocasiões, tivemos de dizer não a financiamentos que priorizam narrativas de heroísmo individual e que estimulam a competição entre organizações do setor social”. Portanto, esses processos de weaving (tecido colaborativo), como Gaby os denomina, abriram espaços para que causas que antes concorriam unissem forças e obtivessem financiamento conjunto não com base na “melhor ideia”, mas no processo coletivo. Uma dessas colaborações resultou na criação do Colombia Cuida a Colombia, movimento do qual a fundação é cofundadora. Trata-se de uma iniciativa de mudança coletiva que tem mais de 400 parceiros dos setores público e privado cujo objetivo primordial é mitigar os piores efeitos da Covid-19 em mais de três milhões de famílias vulneráveis. A TAAP também participou da cocriação de outros exemplos de colaboração relacional: Juntos por Chocó, Juntos por Cúcuta e a Red de Educación Transformadora de América Latina.
Quando pedimos ao nosso setor que invista sua energia coletiva em abordagens mais relacionais e emergentes para transformar os sistemas, simplesmente mencionamos o que muitos de nós já sabemos: as formas atuais de colaboração não estão à altura da tarefa, dada a complexidade dos problemas sociais e ambientais que estamos tentando resolver. Para chegar a resultados mais radicais, precisamos de formas mais radicais de trabalhar juntos, algo tão simples quanto difícil.
Essas formas exigem muito de nós como líderes e rapidamente nos tiram de nossa zona de conforto. Devemos nos lembrar constantemente de que o processo é a solução e devemos permanecer abertos para explorar perguntas novas e difíceis. O que cada um de nós pode fazer para levar as pessoas a se relacionarem profunda e autenticamente e criar espaços seguros para a vulnerabilidade? Como concebemos experiências profundas para curar coletivamente e nos conectarmos com nossa humanidade compartilhada? Como podemos admitir o desenvolvimento e cultivar nossas capacidades como líderes para seguir a nova energia, criatividade e inovações que vemos surgir? Acreditamos que essa é a próxima fronteira da mudança de sistemas. Somente quando começarmos a explorar as respostas a essas difíceis questões começaremos a promover mudanças na consciência individual e coletiva poderosas o suficiente para transformar os sistemas. n
Algumas das principais ideias deste artigo aparecem em “The Relational Work of System Change” (Trabalho Relacional Para Mudar os Sistemas), um dos mais lidos em ssir.org em 2022. Os autores reescreveram o texto para a Stanford Social Innovation Review en Español, incluindo exemplos detalhados de organizações da América Latina que praticam o trabalho relacional.
As formas atuais de colaboração não estão à altura da tarefa [de transformar sistemas], dada a complexidade dos problemas sociais e ambientais. (...) Precisamos de formas mais radicais de trabalhar juntos.
Ilustração: Samara Romão

Como estamos dialogando com o trabalho relacional no ecossistema de impacto brasileiro: desafios e perspectivas
Nas bordas a leste da maior cidade do hemisfério Sul – São Paulo –, um coletivo de mulheres se reúne em torno de uma mesa para produzir cosméticos naturais. Entre ervas que suas avós usavam como remédios e batuques animados, aos poucos, temas como racismo e abuso de crack vão se desvelando nas conversas conforme pomadas, sabões e escalda-pés ganham formas, cores e aromas.
A centenas de quilômetros dali, nas franjas a oeste da mais famosa cidade brasileira no mundo – o Rio de Janeiro –, são pedaços de pano, das mais diversas cores e estampas, que ganham contorno em colchas cerzidas, enquanto assuntos como conflitos com filhos e violência doméstica vão se costurando em “círculos de cura” a partir da escuta coletiva.
Em comum, ambas as organizações são coletivos não institucionalizados (por escolha, mas que em breve terão CNPJ para “se adequar” ao sistema), conduzidos por mulheres pretas e periféricas, cujos trabalhos se dão com base em apoio mútuo no território, com olhares e abordagens emergentes, integradas, profundamente relacionais.
“Nosso método é o afeto, o olho no olho, a música. São os valores afrocivilizatórios brasileiros, baseados na circularidade, no axé, na musicalidade, na cooperação”, conta a educadora popular e enfermeira baiana Leila Rocha, cofundadora da Ilera – Ancestralidade e Saúde, atualmente sediada no bairro paulistano de Guaianases.
Não à toa, o termo ilera, de origem iorubá, está associado à saúde e ao cuidado, ao compartilhamento e ao acolhimento. “A ideia é cuidar da saúde como nossas mães e avós cuidavam, com base no conhecimento de matrizes negra e indígena, uma saúde integral a partir de nossos ancestrais”, diz Leila.
Rituais também são parte importante do coletivo Mulheres de
Pedra, no bairro carioca de Pedra de Guaratiba: as mulheres começam as oficinas em roda entoando um canto de jongo, dança de origem africana, em que pedem “licença” aos antepassados para entrar na casa, independentemente da religião de cada uma. E, de retalho em retalho, as colchas cosidas na casa centenária foram se tornando artefato visível de um processo de trabalho coletivo, conexões autênticas, abertura para novos olhares e desenvolvimento do potencial de cada pessoa, entremeados pelas relações artísticas.
“É sobre o individual valorizando o coletivo e o coletivo valorizando o individual. É sobre ter resistência, potencialidade, é acreditar num mundo melhor que depende de mim e do outro. É acreditar muito no outro”, resume a pedagoga e também educadora popular Leila de Souza Netto, coordenadora do coletivo.
Cada qual em seu território, as Leilas talvez representem duas entre milhares de vozes de um fenômeno emergente e cada vez mais potente no Brasil: o de coletivos e organizações legitimamente criados e conduzidos por representantes de grupos historicamente marginalizados. Não que o fenômeno da ação coletiva seja novo –basta lembrar os movimentos sociais por direitos e luta pela redemocratização dos anos 1970 e 80, as iniciativas de economia solidária em todo o país, ou ainda os próprios quilombos.
Porém, do lugar privilegiado de quem trabalha com fortalecimento institucional e apoia a conexão entre quem detém recursos – sobretudo financeiros – e quem encampa esforços de mudança social nos territórios, nas duas últimas décadas temos acompanhado uma série de movimentos e tendências no campo. Talvez nenhum com tamanha capacidade de se efetivar e ressignificar as estruturas da sociedade civil no tocante ao enfrentamento das desigualdades sociopolíticas, culturais e econômicas como a desses coletivos.
Isso porque, a nosso ver, tais coletivos e organizações propõem uma mudança radical – na raiz – que contraria modelos mentais hegemônicos e o status quo do campo como um todo. A começar de quem parte a ação, em geral pessoas colocadas no lugar de beneficiárias, quando deveriam ser agentes centrais nas transformações socioambientais pelo amplo conhecimento das questões locais e contextuais e das possíveis melhores soluções para elas.
Na forma, partem também do trabalho relacional profundo, ao criar espaços de confiança e cura coletiva, para então tecer, de dentro para fora (e de fora para dentro), a transformação territorial com os mais diversos agentes envolvidos, geralmente em espaços marcados tanto por exclusões, traumas e violações de direitos como por narrativas únicas e potencialidades múltiplas.
“Temos olhares singulares oriundos de experiências interseccionais que produzem saídas únicas para as adversidades cotidianas. Temos uma metodologia radical e inovadora de geração de impacto que busca resgatar práticas ancestrais de valorização de nossas redes e comunidades, de salvaguardar nossa memória com o resgate e a construção do conhecimento”, atesta Aline Odara, cofundadora do Fundo Agbara. Primeiro fundo de mulheres negras do Brasil, nascido de práticas de filantropia negra e comunitária, o Agbara tem como missão a promoção do acesso a direitos econômicos a mulheres negras.
Essas são hipóteses que trazemos de forma exploratória, a partir de nossas próprias vivências, reflexões e aprendizados. Sobretudo ao longo dos últimos cinco anos em que vimos florescer e acompanhamos de perto mais de uma centena de iniciativas dessa natureza.
Esse modo de viver – e de produzir mudança social – sempre existiu por aqui, desde antes do domínio colonizador. Em São Paulo, há mais de 15 anos vemos os esforços hercúleos d’A Banca (ver “Em Busca do Empreendedorismo Social Inclusivo”, na edição 1 da SSIR Brasil); as próprias Mulheres de Pedra têm quase um quarto de século.
Entretanto, partimos do pressuposto de que o momento dá pulso ao movimento, com iniciativas emergentes germinando como nunca, por razões tão variadas quanto complexas – de acessos a direitos básicos como renda, educação e tecnologia que se ampliaram nas últimas décadas ao, paradoxalmente, aumento das desigualdades e precarização do trabalho, além de fatores que possivelmente passam, no curto prazo, pela pandemia; por mudanças geracionais no médio prazo e, no longo prazo, por uma transição maior no nível ontológico que acreditamos (ou esperamos) estar vivendo.
Desafios não faltam. Provavelmente o maior de todos é viabilizar abordagens relacionais com mudança sistêmica e que questionem o pensamento hegemônico e sua mecânica no sistema atual de que fazemos parte. A começar pelos recursos financeiros, que raramente fluem na contracorrente.
Acompanhamos também de perto as dores desse processo emergente e vemos como necessária toda a cautela possível para não criar personagens heroicos, invulneráveis. É comum na lógica predominante transformar pessoas em máquinas de trabalho e, por conseguinte, exemplos de sucesso, em especial no contexto de grupos mais vulneráveis, em que uma voz que se destaca acaba tendo a responsabilidade de representar todas aquelas não ouvidas.
Outro desafio está na lógica de crescimento e escala a todo custo
para que a mudança seja considerada sistêmica. De nossa experiência, contudo, tais coletivos e organizações operam sob lógicas diferentes. Nem todos almejam gerar franquias sociais, influenciar políticas públicas e alcançar milhões de atendimentos em seus relatórios anuais.
Talvez por verem em sua atuação um sistema em si. Talvez por conhecerem como ninguém as complexidades humanas e unicidades dos territórios. Talvez por saberem que há séculos no Brasil povos originários e negros e contextualmente periféricos já trabalham com outro tipo de escala, ainda que mais sutil, a partir da lógica das conexões, das relações e das colaborações dentro e entre os territórios.
Os Yawanawá, comunidades de povos originários no oeste da Amazônia brasileira, por exemplo, vêm sustentando uma mudança paradigmática na lógica de definição do valor monetário de uma matéria-prima mantida pela sabedoria ancestral: o urucum (semente que produz um pigmento vermelho-alaranjado). Há mais de 30 anos, a empresa de cosméticos Aveda compra o urucum dos Yawanawá por um preço que considera o valor histórico, a manutenção do conhecimento tradicional e o modo de vida sustentável. A construção desse processo foi longa: a Aveda apoiou na parte tecnológica para beneficiamento do urucum, ocorreram visitas mútuas e inúmeros momentos de interação que provocaram mudanças em todos os envolvidos. Não sabemos se essa experiência é considerada de escala na indústria de cosméticos. O ponto-chave é que a lógica mudou de uma mera relação de compra e venda de um produto bruto para uma grande empresa reconhecendo (e pagando por) todo o conhecimento e história desse povo, o que influencia muitas outras relações tanto dos Yawanawá quanto da Aveda.
O que nos traz a outras indagações, inspiradas por uma frase da Rede Asta (“das nanoevoluções surgem as grandes revoluções”): será que, com o devido apoio reparativo, essa profusão de coletivos e organizações emergindo por todos os cantos do país, operando em colaboração, não poderia oxigenar o que entendemos por mudança sistêmica? Será que há mesmo espaço para nos abrirmos para novos modelos e formas de pensar e fazer? Será que disso não pode emergir uma contribuição genuína brasileira sobre como transformar as dinâmicas de poder? Será que não podemos aprender com tais práticas de modo que essa forma relacional de sentir, pensar e agir possa inspirar qualquer ação social?
Acreditamos profundamente que sim. E sabemos que a jornada será longa. O primeiro passo, a nosso ver, está relacionado com começarmos (ou voltarmos) a falar no campo da filantropia sobre temas como trazem os autores do texto com o qual aqui “conversamos”. Sobre relações, sobre espaços de cura, sobre o sagrado, sobre mudanças que partem “de dentro” em todos os sentidos, sobre transformar as dinâmicas de poder. Sobre aspectos mais profundos do que nos torna humanas e humanos.
O próximo é que espaços como este possam ser ocupados pelas próprias pessoas aqui mencionadas, que elas não precisem de “intermediários” para trazer suas histórias e perspectivas. Afinal, o exame de vieses vale para todo mundo, incluídos estes autores. Essas reflexões são apenas uma provocação inicial e um convite para que novos estudos e artigos ocupem este ou outros espaços de debate. n

Stanford Social Innovation Review was founded in 2003 to activate a global social innovation community. We unite practitioners of social good, the philanthropists and organizations that fund them, the academics, researchers, and policy makers that help create impact, and the citizens that care about social change.
OUR GLOBAL PARTNERS help fulfill our mission of uniting the global social innovation community. At 20 years, SSIR is available in the languages spoken by 80% of the globe.
2003
SSIR founded at Stanford University
2018
Korean edition with Hanyang University
2006
SSIR.org launches + 1st annual “Nonprofit Management Institute”
2020
Arabic edition with Majarra Japanese edition with Social investment Partners
Spanish edition with Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
2009
SSIR Live! launches regular live online programming
2021
Portuguese edition with RFM Editores
2016
1st “Frontiers of Social Innovation” convenes social impact leaders to explore emerging trends
2021
“Data on Purpose,” SSIR ’s annual gathering on tech for social good, transitions to virtual
IN THE COMING YEARS, we’ll expand our global reach, and co-create content to share solutions across borders and boundaries.
2017
Chinese edition with Leping Social Entrepreneur Foundation
2022
1st SSIR “Global Partners Summit”
a primavera de 2003, a Stanford Social Innovation Review

(SSIR) publicou sua edição inaugural. Agora, 20 anos depois, convidamos alguns dos principais pesquisadores, pensadores e profissionais do planeta – todos eles com artigos previamente publicados na SSIR – para compartilhar suas ideias sobre os desafios que temos pela frente e falar a respeito de como o campo da inovação social deve evoluir para enfrentá-los. O resultado é uma coleção fascinante de artigos diversos que certamente inspira e estimula reflexões. Nas próximas páginas, conheça alguns deles. O conteúdo completo estará disponível em breve em ssir.com.br. Siga nossas redes e cadastre-se no site para receber o material.
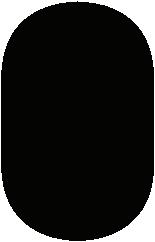
Écomum, no aniversário importante de uma organização, relembrar seu nascimento – neste caso, o surgimento da Stanford Social Innovation Review como publicação do Center for Social Innovation da Graduate School of Business, na Stanford University. Contudo, há outra data relevante na juventude da SSIR: o ano de 2010. Foi quando a Business School definiu que uma publicação voltada para a inovação social não se encaixava mais em seu plano estratégico e, na prática, a colocou para adoção “na porta da igreja” – no caso, na porta do escritório do reitor da universidade.
A SSIR é uma das poucas publicações no campo da inovação social verdadeiramente global: quase metade das pessoas que leem a SSIR online encontra-se fora dos Estados Unidos –nos últimos anos, a publicação lançou seis edições em outros idiomas.
A SSIR já havia se destacado nacionalmente e a ideia de vê-la se tornar, digamos, Harvard Social Innovation Review ou Yale Social Innovation Review não empolgava nem um pouco o reitor. Mas onde realocar a publicação? O Stanford Center on Philanthropy and Civil Society (PACS) havia sido fundado alguns anos antes e mostrava-se promissor na divulgação de pesquisas e atividades docentes nessas áreas. Com o apoio da William and Flora Hewlett Foundation, a SSIR foi adquirida pelo PACS, passando a ser parte integrante do centro e, desde então, motivo de orgulho para Stanford.

Quem lê a SSIR? Funcionários e membros de conselhos de organizações sem fins lucrativos representam cerca de metade dos leitores, com o restante se dividindo entre entidades filantrópicas, empresas, firmas de consultoria, universidades e governos. A tiragem da SSIR é de aproximadamente 11 mil exemplares; online, quase 250 mil pessoas visitam seu site todos os meses, e suas newsletters semanais contam com mais de 90 mil inscritos.
Em seus primeiros anos, a grande maioria dos leitores era dos Estados Unidos. Atualmente, a publicação é uma das poucas no campo da inovação social verdadeiramente global: quase metade das pessoas que leem a SSIR online encontra-se fora dos Estados Unidos. Além disso, hoje são seis edições em outros idiomas, produzidas por parceiros no Japão, na Coreia do Sul, na China, no México (para falantes de espanhol das Américas Central e Latina), no Brasil e nos Emirados Árabes Unidos (para o mundo de língua árabe).
Além da revista impressa e dos conteúdos online, a SSIR promove três conferências anuais que recebem mais de três mil pessoas. No último ano, seu Nonprofit Management Institute, evento de três dias
de duração, abordou uma questão fundamental: “Como promover maior cooperação e colaboração em um mundo cada vez mais divergente?”, voltando-se em particular para o papel das instituições da sociedade civil na busca por interesses comuns; a conferência Frontiers of Social Innovation, em março, tratou do papel da inovação social na sustentação da democracia em um momento em que as instituições políticas democráticas estão sob ameaça em muitas partes do mundo, incluindo os Estados Unidos; e Data on Purpose, no ano passado, focou na tecnologia de interesse público, emergente campo que defende a tecnologia como algo a ser projetado, empregado e regulamentado de maneira responsável e justa.
Permitam-me passar para o conteúdo da publicação, que é, no fim, o mais importante. A SSIR procura ser um fórum global de ideias, práticas e soluções novas em inovação social em todos os setores, além de buscar unir teoria, pesquisa e prática. Um sinal do sucesso nessa missão é o número de ideias e práticas importantes e duradouras que a publicação gerou. Deixem-me mencionar três.
O desafio de romper o círculo, de 2009, explica que a propensão de doadores filantropos a financiar projetos específicos levando em conta despesas gerais mínimas, em vez de oferecer apoio irrestrito, cria um círculo vicioso que priva organizações sem fins lucrativos da infraestrutura necessária para sobreviver e servir a seus beneficiários. O artigo gerou uma análise mais profunda do problema e teve um efeito perceptível nas práticas filantrópicas.
Impacto Coletivo, de 2011, aponta que a mudança social em larga escala exige uma ampla coordenação intersetorial, em vez de uma intervenção isolada de organizações individuais. O artigo destaca um esforço coordenado de fundações privadas e corporativas, funcionários de governos municipais, representantes escolares distritais, universidades, além de grupos de defesa e membros de organizações sem fins lucrativos ligados à educação que advogam pela melhoria do ensino em Cincinnati. Collective Impact, 10 Years Later (Impacto coletivo, 10 anos depois), uma série de artigos publicados em 2021, descreve o sucesso do movimento gerado graças àquele texto.
Most, the Beneficiaries (Ouvindo quem mais importa: os beneficiários), de 2013, ressalta a importância de escutar as experiências das
se beneficiam de programas sociais. Embora o valor das perspectivas desses “especialistas práticos” possa parecer, em retrospectiva, óbvio, muitas organizações sem fins
lucrativos e instituições filantrópicas dedicam-lhes pouca atenção. O artigo catalisou um movimento, dando sustentação para as atuais práticas emergentes de filantropia participativa baseada na confiança.
A SSIR não apenas apresenta ideias e práticas novas, mas também lança um olhar crítico àquelas consolidadas. O artigo Microfinance Misses its Mark (O microcrédito fracassa), que examina os problemas que envolvem microcréditos, foi publicado em 2007, apenas um ano depois do Grameen Bank e de seu fundador, Muhammad Yunus, terem recebido o Prêmio Nobel da Paz por ajudar a popularizar o microcrédito. Mais recentemente, a SSIR publicou artigos que lançam um olhar crítico às práticas socialmente responsáveis presentes no mundo dos negócios, tais como “Do discurso sustentável à prática de Greenwashing ”, na edição 3 da SSIR Brasil
Eu poderia acrescentar muitos outros exemplos de artigos que tiveram impacto no campo da inovação social, mas vou concluir com uma história pessoal. Como um acadêmico orgulhoso de sua escrita, sempre que submeti artigos para a SSIR, o fiz ciente de que estavam o mais pronto possível; ainda assim, eles voltavam, inevitavelmente, com sugestões editoriais que os tornavam não só muito melhores, mas, principalmente, mais acessíveis aos diversos leitores da revista.
O cuidado e a habilidade incomuns que os editores da SSIR dedicam a cada artigo são apenas uma das razões para a preeminência da revista. E, como leitor, aguardo com entusiasmo cada novo número, sabendo que aprofundarei meu conhecimento em áreas que estudei e que descobrirei ideias e até campos que me eram totalmente desconhecidos. Ao longo dos próximos 20 anos, a SSIR vai continuar a crescer e a expandir de maneira que não sou capaz de prever. Tenho certeza, porém, de que, à medida que isso acontecer, a publicação seguirá fiel a sua missão de ser um lugar no qual pessoas engajadas na inovação social em todo o mundo e em todas as partes da sociedade podem compartilhar as novas ideias, práticas e lições por elas aprendidas. ●
Feche seus olhos, respire e imagine o mundo daqui a 10, 20 ou até 30 anos. O que você vê? Sem dúvida, é difícil não imaginar um planeta distópico arruinado por nossa falta de cuidado com nossos ecossistemas e com o próximo. Depois de ler muitos romances ou assistir a vários filmes que mostram comunidades multirraciais lutando para achar seu lugar em um mundo tomado por escassez e competição, é fácil se ver preso nessa visão de futuro.
Convidamos você a fazer um esforço para superar as limitações óbvias dessa visão. Na verdade, vamos dar um passo adiante e sonhar com um mundo incrível e multirracial, no qual as necessidades de todas as pessoas são atendidas, olhando para isso não como algo utópico, mas como uma possibilidade aceitável e bastante real.
Pense no mundo retratado em Pantera Negra: Wakanda para Sempre, no qual o diretor Ryan Coogler nos apresenta uma perspectiva do que é possível quando deixamos de centralizar nossas narrativas nos pontos de vista das pessoas brancas, masculinas e heterossexuais, e de vilões de nossas próprias histórias passamos a nos ver como cúmplices comprometidos em preservar e proteger uns aos outros, conscientes do poder que temos como comunidades individuais e coletivas.
Histórias como a do filme demonstram o nível de violência provocado, ao longo de gerações, por colonizações, conquistas e genocídios – e de que forma podemos superá-los. Isso nos desafia a ver Talokan, o reino subaquático enraizado nas culturas indígenas maias e astecas, como uma possibilidade, apesar das dificuldades que a comunidade ficcional enfrenta para sobreviver.
Quando pensamos no futuro da tecnologia e da inovação social, precisamos nos valer de lentes alternativas, exatamente como no filme, acreditando em um futuro em que cada um é dotado de talento, visão e condição para construir projetos sustentáveis e benéficos para todos; devemos visualizar um mundo enraizado na abundância e que rejeita a ideia de que negritude e indigeneidade devem seguir sendo consideradas inexistentes nas Américas.
A mudança de perspectiva tem tanto a ver com o entendimento do papel desempenhado pelo poder e pela classe na formação da sociedade quanto com a compreensão da função que a discriminação estrutural exerce na criação de nossas identidades racializadas ou étnicas, uma vez que, no fim, como mostram muitas narrativas distópicas, nossos desafios estão ligados a quem controla os recursos e a como esse poder é disputado por comunidades organizadas.
da Fundação Ford, onde trabalhou em estratégias de desenvolvimento urbano com o intuito de ampliar oportunidades econômicas e promover sustentabilidade em todo o mundo. Argilagos também atuou como diretora de programas da Fundação Annie E. Casey. Atualmente, faz parte dos conselhos da Rockefeller Philanthropy Advisors, CANDID, Chronicle of Philanthropy, PoderLatinx e Santa Fe Community Foundation.
HILDA VEGA é vice-presidente de Philanthropic Practice na Hispanics in Philanthropy. Antes de ingressar na HIP, foi diretora do CLIMA Fund, um fundo colaborativo internacional em prol da justiça climática, além de ter ocupado cargos na Social Impact Advisors, Libra Foundation, Avina Foundation e UnidosUS. É membro do conselho da Avina Americas.

Criar uma perspectiva nova é apenas o início. Também devemos nos perguntar o que essa especulação ficcional sobre nosso futuro significa para nós nos dias de hoje, em especial para aqueles de nós em posições que podem influir nos recursos filantrópicos para comunidades negras. Para começar, significa que devemos, de maneira intencional, aproveitar a oportunidade para construir espaços em nossas comunidades e nas organizações que atendemos para definir um futuro feito por todos nós, para todos nós

e sobre todos nós, um futuro no qual o progresso e a libertação de uma comunidade estejam inextricavelmente ligados aos direitos, à segurança e ao bem-estar dos demais – especialmente das pessoas de comunidades negras e indígenas.
É responsabilidade nossa sermos proativos na centralização dessas narrativas convergentes, desmascarando o mito de que inovação e criatividade surgem apenas para aqueles que podem acessar ou compreender as tecnologias mais recentes ou tirar proveito do fato de estarem próximos aos centros de inovação e poder. Nosso vibranium, a energia comum que os wakandanos e os talokanils detêm, está em como fazemos para criar o mundo interconectado que estamos tentando garantir. Devemos fundamentar nossas abordagens nas sábias palavras da escritora Octavia E. Butler: “Não há uma única resposta que solucionará todos os nossos problemas futuros. Não há solução mágica. Na verdade, há milhares de respostas – no mínimo. Você pode ser uma delas, caso opte por isso”.1
Para começar, devemos aprofundar nosso entendimento acerca do significado de decolonização – primeiro em nossas mentes; depois em nossos trabalhos. Como escreve a autora queniana-americana Mukoma
Wa Ngugi: “O trabalho de decolonização é tanto pessoal quanto político”.2 No campo da literatura, Ngugi defende que devemos traduzir a literatura africana para diversas línguas africanas, em vez de para idiomas coloniais como o inglês, fazendo disso uma ferramenta para desafiar o status quo
nenses participaram de um treinamento de operação de drone concedido pela World Wildlife Fund e por uma ONG brasileira, a Associação de Defesa Etnoambiental Kanindé, realizado em suas línguas nativas.
AUMENTAR A RIQUEZA COLETIVA DAS NOSSAS COMUNIDADES
Diferentemente de Wakanda e Talokan, donas de recursos ilimitados, muitas comunidades negras não têm condições de parar e sonhar – de reimaginar e redefinir o mundo para que seja um lugar que funcione para todos nós. Há cerca de 60 milhões de latinos nos Estados Unidos, quase 20% da população; porém, em média, vivemos em lares com um patrimônio líquido de aproximadamente US$ 53 mil, quase um quarto do valor nos lares não latinos. 4
À medida que nossa população continua a crescer, nossa riqueza coletiva também deveria aumentar. Isso começa com a criação de mais oportunidades para que comunidades latinas participem da economia de startup e nela prosperem. Tendo isso em mente, a HIP criou a Inicio Ventures, que tem como objetivo oferecer financiamento e apoio a empreendedores latinos, além de demonstrar que a inovação ocorre mais depressa quando todos têm oportunidade de expressar sua genialidade.
É importante que nós da comunidade latina nos apoiemos nos valores familiares que compartilhamos, bem como no coletivismo e na história para unir nossas comunidades e nortear nossa doação. Fazer isso nos ajuda a entender de que modo podemos criar soluções inovadoras.
No campo da filantropia, há também formas de usar a linguagem para desafiar a mentalidade colonial e as estruturas hierárquicas de poder, bem como a mentalidade de escassez que nos afasta do bem coletivo. Por exemplo, depois do surto da Covid-19, nossa campanha Tierras Mayas, promovida pela HIPGive, concentrou-se em criar resiliência e impulsionar o desenvolvimento de comunidades rurais na península de Yucatan. Nossa equipe criou materiais promocionais e de divulgação em maia e em tsotsil, e não apenas em espanhol. Isso incluiu a tradução do site, bem como de comerciais de rádios em toda a península, promovendo a plataforma e dando oportunidade para a arrecadação de fundos para programas locais através da HIPGive. Também passamos um tempo em Chiapas e em outras partes de Yucatan para entender melhor as necessidades das comunidades indígenas. Neste ano vamos incluir outros idiomas.
Outro exemplo de como a filantropia pode ser mais inclusiva é um programa que ajuda comunidades indígenas da Amazônia a aprender a codificar, desenvolver, consertar e voar seus próprios drones para combater o desmatamento e a violência na região.3 Seis tribos amazo-
Nós também acreditamos que há urgência em envolver mais pessoas de comunidades latinas na filantropia para que ela deixe de ser vista como pertencente a alguns poucos ricos e se torne uma atividade da qual todos podem participar. Comandada pela equipe da HIPGive na Cidade do México, inteiramente composta por mulheres, nós criamos a plataforma Digital Giving Circles, que oferece análise de dados, atendimento ao cliente, oficinas de capacitação, além de painéis, em inglês e espanhol, nos quais somos donos de nossos próprios dados.
ESTIMULAR A INOVAÇÃO EM NOSSAS PRÓPRIAS COMUNIDADES
É importante que nos apoiemos nos valores familiares que compartilhamos, bem como no coletivismo e na história para unir nossas comunidades e nortear nossa doação. Fazer isso nos ajuda a entender de que modo podemos criar soluções inovadoras para nossos desafios mais prementes. Isso pode ser feito, por exemplo, na abordagem que adotamos para batalhar por justiça climática e ambiental.
Pelas Américas, grupos têm defendido a “agricultura regenerativa”. Porém essas práticas precedem esses movimentos, estando enraizadas no conhecimento transmitido pelas pessoas que, ao longo de gerações, cuidaram da terra, da flora e da fauna utilizando uma abordagem mais holística, mais conectada e mais amorosa com o intuito de promover o bem-estar da comunidade. Essas práticas agroecológicas abrangem dimensões culturais e sociais que envolvem ser responsáveis pela Terra e pelo próximo, além de refletirem melhor as ideias do bem viver que culturas nas Américas Central e do Sul respeitam há milênios.
Para garantir essa perspectiva para nosso futuro – uma democracia multirracial para as próximas gerações –, precisamos trabalhar coletivamente, em vez de uns contra os outros. O que estamos propondo como inovações nas comunidades latinas não está, necessariamente, enraizado em tecnologias ou ferramentas novas, mas na busca por soluções inspiradas em nossa sabedoria ancestral. Como nos alerta a escritora e ativista Adrienne Maree Brown: “É fundamental regenerar nossa curiosidade, nosso interesse genuíno por opiniões diferentes e por pessoas que ainda não conhecemos – podemos vê-las como parte de nós mesmos?”5
Pantera Negra: Wakanda para Sempre prioriza essa curiosidade de tal forma que as personagens conseguem compreender que a sobrevivência de sua cultura está enraizada no amor por seu povo. Devemos focar nessa curiosidade, nesse amor e nessa sabedoria ancestral para alterar nossas perspectivas em relação a qual tipo de comunidade queremos ver daqui a 10, 20, 50 anos. Uma vez que tenhamos espaço para reimaginar o que desejamos, podemos realmente conceber e desmantelar estruturas, políticas e sistemas que representam obstáculos para a conquista dessa realidade.
Então, agora, uma vez mais, feche seus olhos, respire e sonhe o futuro conosco. Depois, abra os olhos e avalie qual papel você pode desempenhar e de que modo é capaz de alinhar seus recursos para ajudar a tornar essa visão possível. ●
1 Octavia E. Butler, A Few Rules for Predicting the Future, Essence, outubro de 2000.
2 Mukoma Wa Ngugi, What Decolonizing the Mind Means Today, Literary Hub, 23 de março de 2018.
3 Hazel Pfeifer, “Amazon Tribes are Using Drones to Track Deforestation in the Brazilian Rainforest”, CNN, 1º de setembro de 2020.

4 Zachary Sherer & Yeris Mayol-Garcia, “Half of People of Dominican and Salvadorean Origin Experienced Material Hardship in 2020”, America Counts: Stories Behind the Numbers, US Census Bureau, 28 de setembro de 2022.
5 Adrienne Maree Brown, “Let it Breathe”, Adrienne Maree Brown blog, 11 de outubro de 2011.
Devido à divisão, à polarização e a outros desafios sociais e ambientais, é tentador, à medida que olhamos para o futuro, nos desesperarmos. Mas a esperança é uma força poderosa, e não só no Terceiro Setor. Por que mantemos a esperança e o otimismo apesar das dificuldades contínuas que enfrentamos hoje em dia e certamente enfrentaremos no futuro? Acredito que a resposta seja simples. As pessoas têm esperança porque elas, fundamentalmente, acreditam – precisam acreditar –que somos interligados e interdependentes, e que temos potencial para construir juntos um presente e um futuro mais promissores, seguros e significativos.
E de todos os valores que fomentam um sentido de interconectividade, nenhum é mais universal e poderoso do que a generosidade: doar como expressão de inter-relação, solidariedade e reciprocidade – não como manifestação benevolente daqueles que têm diante dos despossuídos –, como algo que está no cerne das práticas, dos relacionamentos e dos valores de alguém. Espero que como setor e comunidade global nós possamos adotar um altruísmo efusivo, fazendo disso uma prática sincera, alegre, liderada por pessoas e focada na comunidade e enraizada em nossa capacidade de cuidarmos uns dos outros.
O altruísmo efusivo – ou o que nós na GivingTuesday chamamos de generosidade radical – é a simples ideia de que o bem-estar de um vizinho ou de um estranho é tão importante quanto o dos nos-
sos entes queridos, e que nossas atitudes cotidianas mais prosaicas podem impactar de maneira positiva as vidas dos demais, criando uma mudança de comportamento e até uma mudança sistêmica.1 É um movimento de muitos, não de alguns, e seu poder advém de uma visão comum que busca melhorar a vida das pessoas agora e garantir um futuro melhor para todos; envolve o desenvolvimento de práticas e normas orientadas pela generosidade, bem como a celebração das doações que ocorrem abundantemente ao redor do mundo – ainda que não da forma como estamos acostumados ou que usamos para criar narrativas no Terceiro Setor.
As doações financeiras são importantes e, todos os anos, no Dia de Doar (Giving Tuesday), testemunhamos uma enxurrada de apoio essencial para o trabalho de organizações sem fins lucrativos. Isso é especialmente relevante nos dias atuais, com as doações individuais entrando em declínio nos Estados Unidos no momento em que a necessidade do apoio financeiro é tão significativa. Contudo, a generosidade não é expressa somente pela doação de dinheiro para essas organizações, assim como a expressão do amor não é feita apenas de presentes materiais. A generosidade é um valor dotado de incontáveis manifestações: oferecer apoio, tempo, defesa, orientação, atenção, presença e competências – qualquer coisa que possa ser ofertada em prol de outrem.
Essas são as atitudes que as pessoas tomam diariamente e que fazem a diferença na vida dos demais e no bem-estar das comunidades. Mesmo coisas pequenas que tomam pouco tempo – contar para alguém que você está pensando nele, garantir que um amigo doente tenha o apoio do qual precisa, ou colocar um vaso de planta na porta da casa de um novo vizinho – são parte importante da generosidade. Esses gestos cheios de zelo não aparecem nos dados oficiais, mas produzem um efeito tangível na vida das pessoas e da comunidade às quais pertencem.
ASHA CURRAN é CEO da GivingTuesday. Além disso, é presidente do conselho do Guardian.
Center on Philanthropy and Civil Society da Stanford University e professora da Social Innovation and Change Initiative da Harvard Kennedy School. De 2019 a 2022, foi indicada para a The Nonprofit Times’ Top Fifty Power and Influence list.
Quando olhamos para doações considerando essa estrutura mais ampla, vemos que a generosidade está prosperando. O relatório de 2021 sobre doações globais GivingTuesday Data Commons Research mostrou que as pessoas se encontram alta e consistentemente motivadas a doar, e que as doações acontecem de diversas maneiras, indo muito além das doações monetárias. Na verdade, quase todo mundo doa de alguma forma, e a grande maioria das pessoas o faz repetidamente (85% dos entrevistados em todo o mundo fizeram doações, mas apenas 5% das pessoas doaram somente dinheiro). 2 Ver a generosidade no reduzido contexto das doações monetárias para organizações sem fins lucrativos engana e limita nossa imaginação, e é contraproducente mesmo até para os interessados apenas em subverter as tendências das doações, uma vez que faz da doação algo transacional, hierárquico, frio e entediante, transferindo poder e agência para poucos – os “especialistas” que decidem qual doação é boa ou ruim, qual é eficaz ou não, qual é baseada em dados e não “emocional” –, e afastando-a da grande maioria, daquelas pes-
soas que têm raízes profundas com suas comunidades e que sabem do que elas precisam. Ademais, prejudica a agência dessas comunidades vibrantes, cada uma com seus próprios problemas e soluções, aptidões e tradições no que se refere à doação.
Assim, quando nos dizem que o número de lares que fazem doações nos Estados Unidos está diminuindo, é fácil, ainda que totalmente injusto, concluir que a generosidade das pessoas está diminuindo. No entanto, essa observação míope não poderia estar mais incorreta. Aprendemos muitas lições sobre o que inspira comportamentos generosos e como eles são predominantes, e valendo-se disso identifiquei diversas ações primordiais capazes de promover o altruísmo efusivo, prática que vai nos ajudar a criar um futuro imbuído de nossa humanidade compartilhada e da crença de que a generosidade é essencial para a condição humana.
Agência. A possibilidade de um futuro próspero e humano depende de as pessoas terem poder para promover mudanças em sua própria vida e comunidades. Isso significa que não podemos deixar nas mãos de alguns poucos decisões que envolvam as necessidades dos demais. Tampouco podemos olhar para a generosidade como uma interação simplista e binária entre aqueles que têm e aqueles que necessitam, uma visão distorcida que priva milhões de pessoas da possibilidade de serem doadoras, reduzindo-as a sujeitos anônimos nos projetos de outrem. Somente quando as pessoas têm controle sobre como, quando e onde empregam seus ativos – monetários ou não – elas podem usar suas profundas raízes locais, seu conhecimento e sua aptidão para criar soluções; podem passar a ter sua própria voz e perceber sua capacidade de liderar e promover mudanças; e podem se orgulhar do potencial ilimitado de seu engajamento cívico. O altruísmo efusivo coloca o poder da filantropia na mão do maior número de pessoas possível.
Celebração. Embora a quantidade de sofrimento e demanda seja genuinamente avassaladora, uma doação não precisa ser solene. Quanto mais alegre for, mais inspiradora, coletiva e envolvente ela pode ser, e mais pessoas vão se sentir encorajadas a fazer parte daquilo e a doar o que puderem. Diante do sofrimento e da necessidade do mundo, o que há para ser celebrado? Nossa capacidade de juntos fazermos a diferença. Um dos motivos para chamarmos esse tipo de doação de altruísmo efusivo é o fato de vermos a doação como uma celebração – de cada um de nós, de resiliência e de possibilidade – irrestrita.
Coletividade. Embora seja essencial que indivíduos tenham agência, o que torna a generosidade algo poderoso e até mágico, em certo sentido, é o fato de a fazermos em conjunto. Sistemas distribuídos e interligados de pessoas refletem alguns dos sistemas mais funcionais, belos e misteriosos da natureza – fungos, colônias de formigas, a tapeçaria extraordinária das raízes das árvores e o murmúrio dos estorninhos. Em cada um desses sistemas, há algo a respeito do todo que é maior do que a soma das partes. Os cientistas chamam isso de “emergência”: a ideia de que alguma coisa acontece entre as partes de um sistema que, por sua vez, é peça crucial daquilo que o todo realiza. Pessoas trabalhando coletivamente em virtude de sua própria generosidade para melhorar o presente e o futuro é parte essencial do altruísmo efusivo. Imaginação compartilhada. Movimentos sociais baseiam-se em uma paisagem imaginativa na qual seus participantes vivem juntos, evocando um mundo que ainda não existe e trabalhando para construí-lo de
maneira coletiva. Em seu livro Radical Imagination, Max Haiven e Alex Khasnabish escrevem que “a imaginação radical (…) tem a ver com transformar nossa vida e nossos relacionamentos sociais, transformar aquilo e aqueles que julgamos valiosos, nos transformar. Fazemos isso construindo estruturas e instituições sociais alternativas em nossa própria vida… A imaginação radical existe apenas em práticas coletivas”. A imaginação compartilhada e o altruísmo efusivo são inextricáveis. Ambos dependem do coletivo, imaginam um mundo melhor graças à humanidade, à responsabilidade e à agência comuns, e olham para o passado, o presente e o futuro não como períodos desconexos no tempo, mas como profundamente interligados.
A forma como cada um de nós expressa nossa generosidade não é algo para ser julgado ou comparado. Toda expressão de generosidade é uma manifestação do instinto humano que busca ser parte de algo maior do que si mesmo, de contribuir para o bem. Todos nós, tanto dentro quanto fora do Terceiro Setor, devemos começar a olhar para a generosidade de uma maneira diferente e holística, algo sempre abundante que surge de muitas formas e é tão fundamental para a condição humana quanto o amor, a amizade ou qualquer um de nossos bens mais preciosos. Temos a oportunidade de reescrever a história da generosidade e de ajudar mais e mais pessoas a se verem desempenhando um papel essencial no fortalecimento de suas comunidades e fazendo parte do bem social.
O mundo que queremos ver amanhã, em dez e até em cem anos, está sendo construído agora por todos nós nos bilhões de pequenas atitudes que tomamos todos os dias. Vamos nos lembrar de que um futuro melhor, mais seguro e mais justo depende não apenas de cada um de nós, mas de cada um de nós juntos. Que essa seja nossa principal fonte de esperança e otimismo para o presente e para o futuro. ●
Notas
1 Asha Curran, Why We Need a Radical Generosity Revolution, Medium, 14 de janeiro de 2020.
2 From Scarcity to Abundance: Mapping the Giving Ecosystem, GivingTuesday Data Commons, 2021.
POR WARREN NILSSON
James Taylor, facilitador de desenvolvimento organizacional sul-africano, tem, há muitos anos, um sonho singular: “Precisamos criar um curso de mestrado para as organizações”.
É uma coisa estranha de se imaginar: organizações inteiras correndo para faculdades para estudar juntas. Porém essa ideia, ou algo similar, talvez seja a coisa mais importante que podemos fazer para acelerar a inovação social.
A inovação social é uma sala de aula. Estamos aprendendo a lidar com o futuro e como não há ninguém do futuro aqui para nos orientar, o movimento da inovação social tem de aprender por conta própria
à medida que progride, algo que tem sido feito com muito vigor – por isso os milhares de laboratórios, oficinas, conferências, institutos, imersões, incubadoras e bolsas de estudo que continuam a moldá-lo.
Apesar dessa variedade aparente, uma única abordagem para o aprendizado tem sido dominante – vamos chamá-la de Leadership School (Escola de Liderança) –, e ela tem se mostrado regenerativa, criando perspectivas frequentes e diversas. No entanto, muitos de nós que trabalhamos neste ambiente temos uma incômoda sensação de que isso pode estar chegando a seu limite. Os antigos e destrutivos sistemas mundiais seguem se reafirmando com uma facilidade preocupante, e nós nos perguntamos se há alguma coisa inerente à Leadership School que a faz produtiva quando o assunto é uma perspectiva fugaz, mas menos adequada quando pensamos em uma transformação constante.
A Leadership School deposita sua esperança em agentes de mudanças individuais, reunindo-os para que aprendam novas maneiras de navegar por sistemas complexos. Eu ajudei a organizar vários desses programas, que podem ser reveladores. Inscreva-se em um deles e você estará em meio a grupos de ativistas apaixonados e talentosos, empreendedores sociais, desenvolvedores de redes sociais e executivos. Seu senso de possibilidade se expandirá, você verá seu trabalho com outros olhos e retornará ao seu emprego revigorado e esperançoso. Mas o caminho a longo prazo acaba sendo um pouco mais complicado. Uma vez de volta à rotina, os princípios e “ferramentas” aprendidos mostram-se, na vida real, escorregadios. Poucos de seus colegas parecem conseguir se identificar com o que você aprendeu, e você acredita ser muito difícil entender em que momento deve começar a pressionar, estender ou influenciar o sistema com o intuito de transformá-lo. Embora você possa, ocasionalmente, deixar uma marca inspiradora no mundo, sua experiência geral pode ser frustrante e, no fim das contas, cansativa. Pode ser que acabe se sentindo mais solitário do que nunca, obrigado a buscar o apoio de seus colegas ou de outros viajantes perdidos, em vez de contar com as pessoas que trabalham ao seu lado diariamente.
Será que a Leadership School está ensinando coisas erradas? Acho que não. Acredito que ensina as coisas certas, mas para os alunos errados. Para entender isso, pense primeiro na natureza do que está sendo ensinado. O movimento de inovação social converge para um currículo poderoso composto de cinco partes. Esse currículo pode ter diversos nomes e formas, mas praticamente todo o aprendizado da inovação social visa ao desenvolvimento de uma ou mais das seguintes habilidades:
A Consciência sistêmica, arte e ciência de prestar atenção a totalidades complexas, é, em muitos aspectos, a mãe da inovação social. Seu objetivo é ajudar grupos a não só enxergar relações ocultas e feedback loops em seus sistemas, mas também a desenvolver conexões e práticas novas para que o sistema todo comece a se enxergar e a interagir consigo de maneira mais completa.
Práticas de Liderança compartilhada exploram questões como: de que maneira promovemos o
diálogo; como engajamos nossa diversidade; como trabalhamos com o poder de maneira saudável; e de que forma tomamos decisões conjuntas e, ao mesmo tempo, levamos em conta a inspiração individual. A liderança compartilhada envolve microexperimentos no modo como nos reunimos e administramos e macroexperimentos nas estruturas de gestão colaborativa.
A Cocriação reconhece que a inovação social depende menos de pessoas criativas do que de relacionamentos criativos. Sua principal prática é a compreensão – o processo de revelar e promover os pontos fortes já inerentes a pessoas, organizações e comunidades.
O trabalho da Ecologia aprofundada nos conecta novamente àquela realidade na qual os sistemas humanos não se encontram apartados de nossos ecossistemas naturais mais amplos, o que fortalece não apenas nossa capacidade de aprender com a natureza (biomimetismo), mas também de amá-la e de se relacionar com ela (biofilia). Há, ainda, uma ênfase em tornar transparentes, para o bem ou para o mal, os impactos coletivos que causamos nos sistemas vivos aos quais pertencemos.
O Propósito generativo conduz as outras quatro habilidades rumo à exploração de um significado comum. Ao estruturar o propósito como pergunta e não como resposta, nos permitimos enfrentar nossas dúvidas mais profundas, o que nos ajuda a descobrir, juntos, para onde queremos ir.
Essas cinco habilidades encontram-se, há tempos, no cerne do aprendizado da inovação social, e a pesquisa acadêmica no campo do conhecimento organizacional positivo corrobora constantemente o papel fundamental que desempenham.
Aqui está o problema. Nenhuma dessas coisas é uma competência individual. Por definição, e de acordo com a realidade, elas são competências relacionais: não sou capaz de compartilhar poder sozinho; não posso cocriar sozinho; não há ecologia do “eu”; e minha própria consciência do sistema é completamente diferente da consciência que o sistema tem de si.
As competências necessárias para fomentar sistemas resilientes simplesmente não vivem em cada um de nós de maneira separada. Elas vivem nos espaços entre nós, onde nos reunimos, realizamos e tomamos decisões, nos locais em que nos desafiamos e cuidamos uns dos outros, onde nos organizamos. Por que, então, seguimos tentando ensinar habilidades coletivas para indivíduos em cargos de liderança em vez de ensiná-las diretamente aos próprios coletivos?
Isso nos conduz novamente à curiosa ideia de James Taylor de realmente ver o coletivo, ou a organização, como unidade de aprendizado. Por “organização”, me refiro não apenas a organizações formais, mas também a redes sociais, associações, grupos de movimentos – qualquer lugar onde as pessoas se reúnem regularmente para trabalhar em prol de um propósito comum. Nos próximos anos, o movimento de inovação social precisará promover uma nova maneira de ensinar e de aprender, uma forma na qual os alunos sejam as organizações e os métodos envolvam um curso constante de estudo coletivo. Podemos chamá-la de Org School (Escola Organizacional).
O que podemos dizer a respeito dela neste momento? Para começar, podemos aprender com os espaços onde as pessoas, há décadas, trabalham diretamente com o coletivo através de intervenções sistemáticas poderosas, como investigação apreciativa, Teoria U e espaço aberto, para citar algumas. Embora essas intervenções possam ser aplicadas

tendo em mente qualquer objetivo de mudança, elas são, frequentemente, usadas para catalisar inovação social. E funcionam. Há provas substanciais de que essas formas de intervenção, quando plenamente adotadas, podem promover alterações positivas dramáticas no propósito coletivo, na criatividade, na energia e nas relações. Nesse sentido, já sabemos como alterar os sistemas e há muita coisa da qual a Org School pode tirar proveito no tocante ao envolvimento com energias coletivas.
Contudo, o que vem a seguir é a parte difícil. Mudar é fácil, manter a mudança é difícil. E é aí que a inovação social tende a encalhar. Uma intervenção de mudança sistêmica vai, na melhor das hipóteses, indicar uma possibilidade, podendo nos dar um indício de uma outra forma de agir, mas apenas brevemente, e somente no âmbito de uma iniciativa específica. Esforços de mudança normalmente não têm uma função memorial sólida. Assim sendo, catalisam o movimento, mas sofrem para cultivar o aprendizado a longo prazo. À medida que uma empresa volta a se sentir confortável com sua rotina, ou líderes que comandaram uma iniciativa de mudança partem para outra, voltam os velhos hábitos de uma organização, mesmo que disfarçados. Começamos a repetir todos os pontos cegos, medos e cansaços com os quais estávamos acostumados. E nos sentimos tentados, devido a sua tranquilidade reconfortante, a voltar para aquilo que Roberto Unger chama de caminho da menor resistência.
Por algum motivo esperamos que um esforço de mudança seja uma forma de conversão, uma experiência singular que transforma radicalmente tudo de uma vez por todas. Porém o aprendizado raramente funciona desse modo. Ninguém que deseja aprender a tocar piano ou a dançar, por exemplo, imagina que participar de uma imersão durante um fim de semana ou se matricular em um curso de seis meses irá, de alguma maneira, transformá-lo em músico ou dançarino. As pessoas sabem que seu aprendizado não será uma intervenção, mas uma prática, algo que exige comprometimento constante e renovado para que possa render frutos. Aprender inovação social é bastante parecido: não é um momento de pico, mas um trabalho longo e paciente. Como nos recorda Bayo Akomolafe: “O momento é premente. Vamos desacelerar”.
Para produzir uma mudança duradoura na capacidade da inovação social de uma organização, a Org School precisaria diferenciar-se pelo menos de quatro maneiras. Primeiro, suas atividades de aprendizado teriam de ser amplamente distribuídas entre o sistema em diferentes momentos e de formas distintas, ao contrário da Leadership School. Seria raro ver todos os membros envolvidos em uma única atividade; desse modo, para que a organização aprenda, diferentemente do que ocorre quando lidamos com determinados líderes ou equipes, o processo precisaria de uma porção de pontos de contato. As pessoas teriam, então, de tecer juntas o aprendizado, partilhando suas descobertas entre si. E essa tecelagem precisaria superar barreiras ligadas a status e poder, com secretárias ensinando CEOs na mesma medida em que o inverso ocorre.
Em segundo lugar, distante das intervenções de mudança convencionais, a maior parte das Org Schools seria incorporada ao trabalho diário da organização, em vez de restrita a imersões especiais. Isso criaria uma memória organizacional, fazendo com que o aprendizado durasse para muito além do “curso”. Imagine um processo como o da investigação apreciativa, por exemplo, adotada não apenas como uma iniciativa única, mas como uma maneira de avaliar empregados ou gerir projetos. Ou imagine a escuta atenta associada à Teoria U não apenas como um recurso de jornadas sensoriais especiais, mas também como uma dinâmica regular em uma reunião de conselho ou no processo orçamentário.
Em terceiro lugar, o aprendizado se daria em grupos. Imagine dez organizações de inovação social matriculadas juntas em um curso de um ano de duração, de uma maneira muito parecida como fazem líderes individuais atualmente. Por meio de reflexão compartilhada e experimentações em conjunto, as organizações conseguiriam questionar mais facilmente seus próprios hábitos e culturas, rompendo com eles.
Em quarto lugar, os “professores” da Org School seriam, eles próprios, as organizações. Se a sabedoria e a prática da inovação social não vivem em nós, mas em nossos relacionamentos, então são esses relacionamentos que devem assumir a liderança.
Muitas pessoas e instituições estão, pouco a pouco, começando a realizar experimentos com abordagens de aprendizado de inovação social que apontam para a Org School. Elas podem convidar grupos representativos de organizações para os programas existentes criados para indivíduos e oferecer orientação e acompanhamento para organizações que estão tentando estruturar uma jornada de aprendizado de longa duração. Esses experimentos podem mesclar os pontos fortes da Leadership School e da Org School com a vitalidade de diferentes processos de mudança. Mas há ainda um vasto escopo para experimentações mais ambiciosas e constantes.
Os benefícios dessa experimentação podem ser extraordinários. Em nossa pesquisa, eu e meus colegas passamos 20 anos buscando casos atípicos positivos no campo da inovação social, organizações excepcionalmente talentosas em recriar os sistemas dos quais fazem parte e que foram capazes de manter esse talento por muitos anos. À primeira vista, as organizações que mais nos ensinaram não parecem ter muita coisa em comum. Algumas são pequenas; outras, grandes. Umas são horizontais; outras, hierárquicas. Há aquelas que são modernas e há outras que são tradicionais. No entanto, o que as conecta são o esforço que depositam no desenvolvimento das cinco habilidades de inovação social e a forma como todas se mostram reverentes ao refletir sobre suas experiências.
As pessoas nos contaram repetidas vezes que nessas empresas elas se tornaram a melhor versão de si, passando a ser mais corajosas, compassivas, imaginativas e energizadas. Por meio de práticas diárias profundas, essas organizações parecem levar os objetivos da inovação social para o cotidiano imediato e tangível dos corredores e das salas de reunião. Um funcionário de longa data de uma organização de Montreal que promove segurança alimentar nos disse: “Isso cria uma sensação de que é possível estarmos juntos no mundo de uma outra maneira, e isso está bem diante de nós. Não se pode duvidar de que é possível”. Um membro de uma inovadora organização para o desenvolvimento de jovens na Cidade do Cabo coloca as coisas de maneira ainda mais clara: “Eu acho que a magia do que estamos tentando fazer está acontecendo conosco”.
Nas organizações que estudamos, essa “mágica” foi, em grande medida, parte de um processo de aprendizado individual. Elas não se fiaram na Leadership School ou em frequentes intervenções de mudanças, e não existe uma Org School para ajudá-las. Elas percorreram um caminho lento, cultivando suas habilidades coletivas por meio de tentativa e erro e, em muitos casos, deram sorte. Alguns aspectos da inovação social precisam ser, sempre, um processo de aprendizado individual, mas não há motivos para que Org Schools de todas as formas e tamanhos não possam acelerar o aprendizado e, em última análise, o impacto da inovação social de muitas outras organizações.
A jornada da Org School está apenas começando e o convite deve ser divulgado ampla e plenamente. ●
Doadores preocupados com polarizações tóxicas e com o extremismo político deveriam investir na organização comunitária.
POR LOREN MCARTHUR
democracia americana está em crise. A confiança no governo vem despencando há décadas; um alarmante número de americanos – em especial os jovens – já não acredita que a democracia seja a melhor forma de governo; e o extremismo e a violência política estão em ascensão.
A crise pode parecer intratável, com suas raízes arraigadas em nossas instituições, sistema econômico e cultura política. Se não há soluções fáceis para consertar a nossa democracia, um investimento filantrópico de grande porte na organização comunitária poderia combater o perigoso tribalismo que contamina a vida pública, reduzir o isolamento social que está alimentando o extremismo político e revitalizar uma cultura de democracia de base nos Estados Unidos.
Contudo, para realizar a promessa democrática da organização comunitária, os doadores precisam deixar de ver a prática meramente como um instrumento para promover seus objetivos políticos e táticos e valorizar o papel fundamental que ela desempenha no coração da organização política americana. A organização comunitária ensina às pessoas as competências da democracia: como construir e sustentar organizações junto com outros indivíduos, ouvir pessoas com diferentes perspectivas, criar consensos, compreender onde reside o poder em nossas instituições políticas e econômicas e como negociar com ele. Em um momento no qual as pessoas perderam a confiança nas instituições democráticas, uma boa atividade organizativa confere a elas um sentido de agenciamento e uma crença em sua capacidade de influenciar e reformar essas instituições.
Construção de Relações Presenciais
No início da década de 2000, passei oito anos trabalhando como organizador comunitário na região do Vale Merrimack, em Massachusetts, polo importante da indústria têxtil nos Estados Unidos durante mais de um século. Foi em uma das principais cidades da região, Lawrence, que aconteceu a famosa greve Pão e Rosas (Bread and Roses), em 1912, durante a qual dezenas de milhares de trabalhadores imigrantes de mais de 50 países saíram às ruas para obter melhores salários e condições de trabalho. Atuando com sindicatos e comunidades religiosas, tanto progressistas quanto conservadoras, organizei campanhas para combater o fechamento de fábricas, melhorar as condições de trabalho para trabalhadores imigrantes e criar moradias a preços acessíveis.

Minha experiência como organizador rendeu-me insights sobre como deve parecer uma democracia realmente pluralista e multirracial
e sobre o que é necessário para a sua criação e manutenção: um compromisso radical com a construção de relações alicerçadas em interesses e valores compartilhados, apesar das diferenças reais e importantes em identidades, políticas e sistemas de crenças. O tipo de prática democrática de que necessitamos numa sociedade heterogênea não evita as diferenças; em vez disso, busca discernir e ativar os valores comuns em nossas diferentes tradições e histórias.
Durante os últimos 20 anos, os organizadores comunitários têm modificado sua abordagem para a construção do poder. Enquanto as organizações que os organizadores comunitários instituíram no século 20 foram erguidas em nível municipal, no final do século a maioria das grandes cidades dos Estados Unidos estava desgastada e muitas delas haviam falido – o poder e os recursos já não estavam lá. Grupos organizadores começaram a focalizar modelos para construir um poder governante em nível estadual. Redes de ação também começaram a expandir sua presença dentro do governo federal e a participar de coalizões maiores a fim de influenciar a política nacional. Grupos passaram a desenvolver programas de engajamento do eleitor e estabeleceram organizações de bem-estar social sem fins lucrativos e com isenção de taxações pela lei americana) com o propósito de obter engajamento em atividades e lobbies políticos.
À medida que os organizadores foram se tornando mais sofisticados na construção de poder nos níveis estadual e nacional, o financiamento filantrópico para ações organizativas também aumentou significativamente. Dados sobre fundações da Candid – embora incompletos – indicam que elas investiram US$ 227 milhões em ações organizativas de comunidades em 2008, ano em que deixei meu trabalho com organizações no Vale Merrimack. Em 2020, esse número explodiu, passando a US$ 1,17 bilhão. Nesse mesmo período, o financiamento visando à educação e ao registro do eleitor disparou, passando de meros US$ 32 milhões em 2008 para US$ 515 milhões em 2020. Esses dados nem chegam a incluir todos os financiamentos
que os grupos organizadores recebem através de suas organizações, cujo número está em expansão.
O impulso em investimentos de doadores tem ajudado grupos organizadores a expandir seu poder. Não obstante, em importantes aspectos, o investimento em organização por parte da filantropia também tem se mostrado contraído e restritivo. A maior parte dos doadores adota uma abordagem transacional para as ações organizativas na comunidade, tendo tal abordagem como tática para a promoção de políticas ou de objetivos políticos. Eles deixam de valorizar devidamente o papel da organização no fomento de normas e práticas democráticas e no fortalecimento da confiança social – pré-condições importantes para uma democracia multirracial funcional e equitativa.
As ações organizativas em comunidades, ancoradas na construção de relações presenciais, atuam em sentido contrário ao da polarização tóxica que está solapando a nossa democracia. Um grande número de pesquisas em ciências sociais mostra que o contato intergrupal reduz o preconceito entre diferentes grupos. Essas ações também criam a possibilidade de empatia e conexão a atravessar divisões e a oportunidade de criar narrativas novas e unificadoras, além de identidades coletivas mais expansivas.
O papel das ações organizativas no fomento a uma cultura de democracia de base propõe uma ampla perspectiva de financiamento que dissemine recursos de forma liberal pelo país. Ainda assim, a distribuição de recursos para ações organizativas tem sido geograficamente desigual. Grupos em estados e grandes cidades que são campos de batalha podem desfrutar do acesso a importantes correntes de financiamento, enquanto enormes faixas do restante do país são deixadas com escassos recursos para o tipo de engajamento democrático que a organização comunitária proporciona.
O repentino aumento do volume em dinheiro vindo da filantropia institucional traz outras consequências inesperadas. Grupos voltados às ações organizativas ficam tentados a buscar grandes investimentos de ricos doadores, em vez de se envolver no árduo trabalho preliminar de angariar fundos no âmbito de
suas comunidades. Os organizadores sentem-se pressionados a desenvolver campanhas de curto prazo que produzam os triunfos ou resultados eleitorais nas políticas concretas que os doadores almejam, negligenciando esforços de longo prazo para aprofundar suas bases de adesão e desenvolver novas lideranças.
Cinco Recomendações para Financiadores Como os doadores podem apoiar a ação organizativa de um modo que os capacite a realizar plenamente a sua promessa democrática? Tenho cinco recomendações.
Financiar geografias transversalmente. | Os doadores têm de reconhecer que as ações organizativas são um componente vital da cultura democrática da nação e financiar liberalmente todas as geografias, em vez de limitar seu investimento a regiões que levam em conta apenas estratégias políticas de curto prazo. Temos que alimentar uma aceitação de normas e práticas democráticas por toda a parte, incluindo – o que talvez seja o mais importante – os lugares onde crenças antidemocráticas estejam criando raízes.
Ser agnóstico quanto a temas. | Os financiadores devem proporcionar apoio incondicional para que as comunidades se organizem em torno de temas que elas definam como os mais importantes, em vez de condicionar investimentos ao engajamento do beneficiário em áreas de políticas específicas. Se a organização comunitária deve ser um lugar onde as pessoas engajam em ações democráticas, essas mesmas pessoas devem ter a capacidade de escolher sobre quais temas vão se debruçar.
Apoiar ações organizativas que atravessem fronteiras raciais e ideológicas. | Os financiadores deveriam investir em grupos que estejam criando pontos comuns entre bases eleitorais que a cultura política dominante busca dividir: comunidades brancas trabalhadoras e de classe média e comunidades não brancas; comunidades urbana e rural; bases eleitorais ideologicamente progressistas e conservadoras; e assim por diante.
Investir em grupos que estejam construindo uma base profunda de líderes e membros ativos e que sejam responsáveis por ela. | A fim de apoiar organizações comunitárias que promovam uma participação cívica significativa, os doadores deveriam
investir em grupos que tenham priorizado a construção de bases – isto é, o trabalho de construir um eleitorado maciço de líderes e membros ativos e engajados —, ainda que tais compromissos resultem em menos progresso imediato visando resultados políticos. Os doadores também têm de olhar para além das organizações estabelecidas a fim de apoiar esforços nascentes em ações organizativas que ainda não contem com engajamento institucionalizado, mas estejam gerando engajamento de base significativo.
Alimentar a independência financeira de grupos organizadores. | Os líderes de organizações sem fins lucrativos têm clamado para que as fundações proporcionem um apoio mais generalizado às ações organizativas – o que se justifica, já que o financiamento sem restrições possibilita maior flexibilidade nos programas e estratégia desses grupos. Contudo, proporcionar apoio direcionado para que eles construam a sua independência financeira é algo capaz de exercer um impacto ainda maior. Ao amparar grupos organizadores no desenvolvimento de programas de anuidades, campanhas de captação de recursos de base e estratégias de receitas obtidas, os financiadores podem ajudá-los a reduzir sua dependência da filantropia grande, a estabelecer uma responsabilidade comunitária mais autêntica e a se tornarem instituições governadas de forma realmente democrática.
Os doadores comumente se mostram hesitantes em investir em ações organizativas de base em razão do custo de fazer esse trabalho em larga escala. Porém, não deveríamos pautar o trabalho de revitalizar a nossa democracia por uma mentalidade de escassez. Existe uma enorme riqueza a ser mobilizada: considere que os doadores gastaram colossais US$ 14,4 bilhões apenas nas eleições de 2020. Um investimento gigante em organização comunitária para revitalizar nosso compromisso com as normas e práticas democráticas e fortalecer a solidariedade social são um grande avanço rumo à construção da resiliência que precisamos para sobreviver às ameaças que pairam diante de nós, bem como das capacidades criativas de que necessitamos para garantir um futuro justo e próspero. n
Mulheres do Oriente Médio que tentam lançar empresas sociais enfrentam barreiras significativas, mas podem superá-las potencializando laços sociais.
POR GHADAH W. ALHARTHI E TUUKKA TOIVONENmniah estava com seus quase 30 anos e tinha um emprego corporativo estável – trabalhava para uma empresa internacional em Jeddah, Arábia Saudita –, quando pela primeira vez ouviu a expressão empreendedorismo social, vinda de uma amiga que estudava para um mestrado sobre o tema no exterior. Após passar um bom tempo lendo e assistindo a vídeos sobre o assunto, Omniah decidiu arriscar e iniciar uma empresa social.
A transição não foi fácil. Ela descobriu que suas amigas e a família não sabiam o que era empreendedorismo social. Volta e meia tinha de explicar-lhes do que se tratava o setor. Eles não conseguiam compreender por que ela estaria deixando um emprego estável para iniciar o que supunham ser uma obra de caridade. Também teve de explicar empreendedorismo social para financiadores e investidores em potencial, e precisou encontrar outros empreendedores sociais a fim de identificar qual seria a rede de negócios correta para aderir.
De que modo as empreendedoras sociais aprendem a sobreviver e a prosperar em contextos não ocidentais, nos quais o tema ainda está despontando? Nós nos dedicamos a essas questões entre 2014 e 2019 para escrever uma tese de doutorado no departamento de administração e finanças da School of Oriental and African Studies (Escola de Estudos Orientais e Africanos) da University of London. Investigamos empreendedores tanto do sexo feminino quanto do masculino na Arábia Saudita e focalizamos o seu uso de capital social e de wasta – o sistema de patrocínio no Oriente Médio que no Ocidente muitas
vezes é comparado a favoritismo e nepotismo. Durante o ano de 2021, acompanhamos os empreendedores sociais que havíamos estudado.
Descobrimos que as empreendedoras sociais sauditas enfrentam barreiras significativas para fazer crescer suas empresas, mas podem explorar algumas vantagens em relação a seus pares homens ao transitar por seus laços sociais profundos com a família e amigas íntimas. Nossa pesquisa pode ajudar a embasar esforços em apoio a empreendedoras sociais no Oriente Médio e Norte da África (MENA), bem como em outros lugares do mundo onde as mulheres enfrentem circunstâncias semelhantes.

Wasta e Capital Social
Na Arábia Saudita, a participação em empreendedorismo social não registrou aumentos significativos nos últimos cinco
anos: o número de empresas sociais manteve-se estável em aproximadamente de 2.597 a 3.000. A Arábia Saudita hoje tem 1 organização sem fins lucrativos para cada 10 mil pessoas. A título de contraste, o Canadá e os Estados Unidos têm 1 para cada 50 pessoas, e a França tem 1 para cada 200 pessoas. Contudo, recentemente, a Arábia Saudita sinalizou interesse em fazer o setor crescer. Em junho de 2021, o Conselho de Ministros do país aprovou a fundação do Centro Nacional para o Desenvolvimento do Setor sem Fins Lucrativos (NCNP, de National Center for the Development of the Non-Profit Sector), que regulará o setor. Apesar desse amparo do governo, as empreendedoras sociais enfrentam barreiras significativas que são compartilhadas com suas colegas globalmente.
Constatamos quatro tendências gerais, especificamente. Primeiro, as empreendedoras sociais têm menos recursos do que seus colegas homens em razão do acesso limitado, da parte delas, a círculos sociais externos à família. As mulheres são sistematicamente excluídas das redes de negócios tradicionais, e, como resultado, carecem de informações que viriam de tais redes. As redes de mulheres normalmente parecem incluir menos empreendedoras, além de serem mais homogêneas. As mulheres também sentiam que tinham de trabalhar mais para conquistar a confiança e o respeito de seus investidores e patrocinadores.
Como segunda tendência, vimos que o apoio vindo de laços fortes é vital para o sucesso das empreendedoras sociais. Ao dizer “laços fortes”, estamos nos referindo a relações com amigas próximas e membros da família com quem a mulher em questão tenha interações frequentes, baseadas em confiança mútua e calcadas num vínculo emocional profundo. Os laços fortes podem proporcionar mão de obra, acesso informal ao capital de amigas e familiares, apoio social e informações sigilosas que na maior parte das vezes estão disponíveis apenas mediante relações de alta confiança.
Em particular, o apoio da família – sobretudo o apoio dos maridos – afeta incrivelmente o sucesso das empreendedoras sociais. Por exemplo, as fontes tradicionais de financiamento para empreendedoras sauditas costumam ser os pais, maridos ou outros membros da família que normalmente disponibilizam capital suficiente para pequenos negócios. Por essa razão, o progresso das mulheres na sociedade saudita está intimamente atrelado ao apoio do núcleo de sua família e da parte estendida.


De modo paradoxal, algumas entrevistadas citaram a família como principal obstáculo ao crescimento, enquanto outras citaram-na
como o colaborador mais importante para o seu crescimento. Os papéis de gênero entre famílias dependem de fatores como o grau de instrução, a classe socioeconômica e o contexto urbano-rural. Por exemplo, duas fundadoras de empresas sociais, a primeira voltada ao desemprego feminino e a segunda, ao desperdício de alimentos, explicaram que suas famílias haviam apoiado seus estudos na faculdade, que tinham em vista uma bolsa ou um mestrado em empreendedorismo social, assim como haviam demonstrado compreensão e fé no trabalho da filha como empreendedora social. “Minha família achava bom ter uma filha e esposa ajudando a sociedade,


mesmo que não fosse bem paga”, disse uma empreendedora social.
O oposto foi verdadeiro para duas outras empreendedoras sociais – uma com enfoque na juventude, a outra em desemprego feminino –, que enfrentaram a oposição de seu núcleo familiar e dependeram de laços mais fracos para obter financiamento e outras formas de apoio. Como resultado, tiveram de lutar mais para crescer.


Pela terceira tendência, as empreendedoras sociais receberam menos apoio de seus laços fracos em comparação com os empreendedores sociais homens. Por “laços fracos”, entendemos os diversos grupos de pessoas que estão fora

do círculo de laços fortes, mas ainda assim podem prover capital e apoio: clientes, fornecedores, instituições financeiras…todos os grupos com os quais um indivíduo interage de maneira não frequente ou casual, numa base irregular. Em consonância com outras constatações sobre empreendedoras mulheres, as empreendedoras sociais sauditas encontram confiança e apoio em membros da família, ao mesmo tempo em que continuam a enfrentar uma série de desafios relacionados a acesso a financiamento. Os homens sauditas, por sua vez, sofrem pressões da família e com o modo como a sociedade vê o empreendedorismo social e sua conveniência como trabalho rentável para o provedor da família. Isso
Em primeiro lugar, as aspirantes a empreendedoras sociais precisam urgentemente de redes de apoio para ser bem-sucedidas. As estruturas sociais femininas, bem como o modo como elas socializam, exercem uma influência importante nas dotações de capital social de que se valem as mulheres para iniciar seus negócios. A falta de acesso a investidores, a organismos de financiamento, redes de negócios e eventos de networking social restringem suas oportunidades de obter capital e outros recursos cruciais para o crescimento dos negócios. Os construtores de ecossistemas podem e devem encorajar a formação de redes femininas ligando-as a instituições
governamentais. Os empreendedores sociais que examinamos mencionaram sobretudo o modo como o seu gênero afetava a sua capacidade de construir relações com seus bancos, clientes e fornecedores.
porque o empreendedorismo social é considerado obra de caridade por algumas das famílias dos empreendedores sociais do sexo masculino. Então, em vez de recorrer aos laços fortes, os homens acharam mais fácil fazer seu networking com laços fracos, e estavam tendo acesso mais fácil a eles.
Como quarta tendência, o wasta provou ser uma modalidade importante de capital social para empreendedoras sociais. Na região do MENA, o wasta pode se sobrepor ao viés de gênero numa sociedade dominada pelos homens, proporcionando às mulheres oportunidades de crescimento. Por outro lado, a falta de wasta no Oriente Médio pode impedir o sucesso de um indivíduo da mesma forma como a ausência de networking e mentoria é um obstáculo em países ocidentais.
Reduzindo Barreiras
Com base em nossas constatações, apresentamos quatro recomendações para auxiliar as empreendedoras sociais na Arábia Saudita, na região do MENA e outros lugares onde elas enfrentam dinâmicas semelhantes.
e fundações estabelecidas, em especial as que consagram o empoderamento feminino como um objetivo importante.
Em segundo lugar, as empreendedoras sociais e seus apoiadores deveriam abordar laços familiares de maneira estratégica. A família constitui uma barreira quando as mulheres não podem dedicar tempo e atenção adequados aos negócios e/ou não podem viajar em razão de compromissos familiares e responsabilidades com o cuidado dos filhos. Uma atitude positiva da família e do marido, contudo, bem como seu apoio emocional, parece auxiliar as mulheres a alcançar desempenho e resultados exitosos.
Em terceiro, contratar mulheres para posições de liderança relevantes pode ajudar as empreendedoras sociais a ter acesso e conexões que vão ampará-la ainda mais. Tanto os empreendedores quanto as empreendedoras sociais tiveram que enfrentar barreiras socioculturais relacionadas a seu gênero, como a de a sociedade considerar o setor apropriado ou não para eles, o seu acesso a financiamentos e a sua capacidade de se comunicar com órgãos
As mulheres acreditavam que sua jornada pelo setor teria sido mais fácil se houvesse menos barreiras culturais. Por exemplo, reclamaram de não conseguir ir a tantos eventos de networking quanto os homens. Para as mulheres, o networking revelou-se desafiador, uma vez que muitos dos cargos mais altos, no governo e no setor privado, eram ocupados por homens. Isso implicava que empreendedores sociais do sexo masculino tinham mais chances de acessar redes maiores e de construir seus laços fracos. Se mais mulheres estivessem em cargos de liderança nas fundações e organizações sem fins lucrativos, bem como em repartições públicas relacionadas a empresas sociais, as empreendedoras sociais poderiam ter mais facilidade em explorá-las. Em quarto lugar, o wasta no empreendedorismo social proporciona uma ferramenta para a superação dos desafios encontrados. Uma vez que as mulheres consideraram mais fácil receber apoio da família para suas empreitadas, elas tiveram acesso mais fácil a laços fortes e ao wasta de laços fortes. Os empreendedores sociais homens, por sua vez, não receberam muito apoio dos laços fortes, mas tiveram acesso mais fácil aos laços fracos e ao wasta de laços tanto fortes quanto fracos. Os empreendedores sociais homens sentiam-se confortáveis em utilizar seu capital social, uma vez que podiam entrar em edifícios governamentais ocupados somente pelo sexo masculino e usar o seu wasta para resolver as coisas de modo mais rápido, enquanto as mulheres tinham de usar o telefone ou e-mail para chegar a alguns funcionários homens do governo.
No mundo árabe, as afiliações tribais regionais e familiares são condutores importantes para o wasta. Embora os que estejam investindo na construção de ecossistemas sociais possam não ser capazes de influenciar a relação entre as empreendedoras sociais e seu wasta, aumentar a percepção do empreendedorismo social na mídia pode encorajar o wasta dessas mulheres a lhes fornecer mentoria e outros tipos de apoio. n
As empreendedoras sociais sauditas encontram confiança e apoio em membros da família, ao mesmo tempo em que continuam a enfrentar uma série de desafios relacionados a acesso a financiamento.




























































MEIO
que ocorre quando pessoas em países em que o governo pouco monitora a poluição descobrem que a qualidade do ar é perigosa? Um novo estudo detalha como a Embaixada dos EUA em Pequim começou a acompanhar os níveis de poluição do ar da capital chinesa e a tuitar sobre eles em 2008. Posteriormente, o programa se estendeu a outras embaixadas dos EUA em capitais ao redor do mundo. Tal prática levou a um declínio mensurável da poluição do ar nessas cidades, poucas das quais realizavam anteriormente um monitoramento de poluição local, descobriram os pesquisadores.
Os autores do artigo –Akshaya Jha, professor assistente de economia e políticas públicas da Carnegie Mellon University, e Andrea La Nauze, professora da School of Economics da University of Queensland, usaram dados de satélite para comparar os níveis de poluição medidos anualmente. Os pesquisadores verificaram que o nível de poluição do ar diminuiu depois que a embaixada local dos EUA começou a tuitar os índices de poluição revelados pelo equipamento de monitoramento que o pessoal diplomático havia instalado.
O programa da embaixada levou a uma queda nos níveis de concentração de partículas finas de duas a quatro microgramas por metro quadrado, obtendo um declínio da mortalidade prematura média da
cidade do valor de US$ 127 milhões (cerca de R$ 641 milhões) em 2019. “Nossas descobertas apontam para os substanciais benefícios de melhorar a disponibilidade e a relevância de informações sobre a qualidade do ar em países de baixa e média renda”, afirmam Jha e La Nauze.
A cobertura da mídia do monitoramento da poluição em Pequim pelo governo dos EUA despertou o interesse dos pesquisadores, revela La Nauze. Na época, diplomatas americanos foram citados dizendo que os tuítes da embaixada levaram a mudanças significativas nos níveis de poluição da cidade. Quando os pesquisadores souberam que o Departamento de Estado dos EUA havia estendido o programa para embaixadas em todo o mundo, pensaram que poderia haver uma maneira de avaliar empiricamente as análises feitas pelos diplomatas.
Um problema que os pesquisadores enfrentaram foi como quantificar o impacto de medir algo que nunca havia sido medido antes.
Jha e La Nauze também analisaram as mudanças nos funcionários do Departamento de Estado dos EUA de certa cidade que recebiam adicional de insalubridade ao longo do tempo e descobriram que ele era condizente com os dados de poluição. Esse foi outro indicador de que o índice de poluição,
que teria justificado esses adicionais de insalubridade para diplomatas de determinados níveis, estava caindo. Os residentes locais também estavam dando mais atenção ao assunto, com o aumento de pesquisas no Google de expressões como “qualidade do ar”, depois que uma embaixada próxima começou a tuitar, constataram os pesquisadores.
Por que os tuítes da embaixada fizeram diferença? “O relatório diário das leituras de PM2,5 (partículas de material sólido ou líquido suspenso no ar, na forma de poeira, aerossol, fumaça, entre outras) dos monitores das embaixadas pode fornecer aos governos locais e federais as evidências necessárias para implementar políticas de poluição nas cidades-sedes”, escrevem os pesquisadores. Uma combinação de fatores também pode ter contribuído para a redução dos níveis de poluição, avalia La Nauze, como a pressão implícita do governo dos EUA, que estimulou as autoridades locais a fazer mudanças nas políticas, o ativismo dos residentes

locais ou a mudança de comportamento dos indivíduos. Os moradores podem ainda confiar nesses novos dados porque sentem que o governo dos EUA, como terceiro, não teria motivos para manipular as leituras.
O documento vai apresentar argumentos sobre como melhorar a poluição do ar, conta La Nauze. A Organização Mundial da Saúde solicitou mais monitoramento, mas sem evidenciar que ele ajuda.
Embora a maior parte da literatura revele que a qualidade do ar é importante para a saúde humana, poucos estudos demonstram como resolver problemas de poluição do ar em locais específicos, analisa Marshall Burke, professor associado do Departamento de Ciência do Sistema Terrestre (Earth System Science) da Stanford University. “Esse artigo é um excelente exemplo dessa última asserção, pois mostra que o fornecimento de informação sobre a qualidade do ar em países de baixa e média renda (nos quais tal informação é em geral muito difícil de obter) pode levar a melhorias na qualidade do ar, aparentemente porque a conscientização sobre a má qualidade do ar induziu as autoridades locais a fazer algo a respeito”, diz Burke.
O programa da embaixada também ajudou o governo dos EUA, ele observou.
“Os autores vão ainda além e apontam que, até mesmo para o Departamento de Estado dos EUA, a instalação dos monitores nas embaixadas se revelou um ótimo custo-benefício, pois, ao promover a melhora da qualidade
do ar, reduziu os adicionais de insalubridade que eram pagos aos diplomatas – de modo que os monitores se pagaram facilmente”, conclui Burke. n
s sociólogos têm teorizado sobre dois métodos pelos quais a sociedade capitalista neoliberal administra seus integrantes mais pobres. O primeiro é o modo punitivo, em que a polícia, os tribunais e outros órgãos do governo penalizam os pobres para mantê-los na linha. O segundo é o modo paternalista, em que a esfera pública e organizações sem fins lucrativos tratam os pobres como crianças rebeldes que precisam ser ensinadas a se comportar.
Em recente artigo, um jovem sociólogo formulou uma terceira via, compatível com as duas primeiras, em que a sociedade gerencia os pobres: a governança paliativa. Ao analisar seus 15 meses de pesquisa etnográfica em um programa para troca de seringas, em Los Angeles, que oferece suprimentos limpos para usuários de drogas – muitos dos quais são pessoas em situação de rua –, ele teve uma visão de como o governo e as organizações sem fins lucrativos muitas vezes tentam simplesmente evitar que as pessoas pobres morram,
em vez de resolver de fato qualquer de seus problemas ou abordar questões estruturais do sistema.
O autor do artigo, Anthony DiMario, doutorando em sociologia na University of Southern California, passou mais de um ano como voluntário no Mobile Exchange de Los Angeles, observando como os funcionários interagiam com os usuários. O que ele descobriu foi um programa que operava dentro de um sistema de teias de empresas sem fins lucrativos e iniciativas governamentais projetadas para impedir que os frequentadores tivessem uma overdose ou contraíssem doenças transmitidas por agulhas. O que o programa não fez, porque não tinha financiamento nem missão para tal, foi tentar resolver outros problemas intratáveis que muitas vezes coexistem com a pobreza. Os usuários chegavam para trocar as agulhas, recebiam agulhas limpas e medicamentos antioverdose, talvez comessem uma rosquinha e voltavam, em muitos casos, para as ruas.
Com base nessa pesquisa, DiMario descreve a governança paliativa como uma forma de interagir com os pobres cujo objetivo é garantir que as pessoas não morram – o mínimo que pode ser feito por “um Estado que não tem nem os meios nem a vontade de cuidar das pessoas”, afirma. No artigo, ele compara a governança paliativa com outros dois modelos de governança da pobreza, a governança punitiva e a parental, e explica como os três trabalham em conjunto para supervisionar e controlar
os pobres, sem mudar a sorte deles ou as deficiências estruturais que os mantêm pobres.
“Esse artigo teoriza a governança paliativa para descrever formas de regulação que não punem nem protegem, mas apenas tentam manter vivos indivíduos muito pobres por meio de uma série de medidas paliativas”, escreve DiMario. “Uma análise da governança paliativa amplia nossa compreensão de como as instituições interagem com os sujeitos e entre si, ao mesmo tempo que revela maneiras paradoxais pelas quais os Estados expõem e protegem a vida cruamente.”
DiMario se interessou pela interação entre as forças do governo e a vida das pessoas em dificuldades conforme crescia nos arredores de Boston, em meio a uma onda de dependência de heroína e opioides, lembra ele. Durante seus anos de graduação na University of Vermont, vários garotos da cidade tiveram overdose e outros foram para a prisão por vender drogas. A experiência deu a DiMario a oportunidade de comparar “as representações da mídia sobre as crises das drogas” com a forma como as coisas são vistas pelas pessoas que vivem esses problemas.
Na pós-graduação, na qual estudou política de drogas, trabalhou em programas locais de redução de danos em Los Angeles. “Eu estava interessado em redes civis de resposta a emergências”, ele conta. Esse artigo resultou em sua dissertação de mestrado.
O que DiMario identificou por meio de seu trabalho etnográfico foi que o “hospício
como política social” estava se enraizando nas agências governamentais que supervisionavam os serviços sociais para populações vulneráveis, como moradores em situação de rua e viciados em drogas, bem como nas organizações sem fins lucrativos que promovem sua divulgação. Analogicamente, diz ele, podem ser vistos como as intervenções humanitárias no Sul Global, em que doadores estrangeiros enviam remédios e fundos para manter as pessoas vivas. Raramente, porém, essas intervenções elevam o padrão de vida dos beneficiários de forma significativa ou possibilitam que vivam com dignidade.
“DiMario identifica relações entre modos punitivos, paternalistas e paliativos de governança da pobreza para compreender a dinâmica em jogo e os diferentes tipos de ações institucionais que se enquadram em cada categoria”, afirma Lindsey Richardson, professora associada de sociologia na University of British Columbia.
O artigo descreve uma terceira categoria de governança da pobreza, as “intervenções minimalistas” de agências oficiais e grupos sem fins lucrativos, que buscam manter os pobres apenas sobrevivendo, diz ela.
“DiMario ampliou nossa compreensão sobre as abordagens institucionais para a ‘gestão’ e ‘mitigação’ da pobreza de uma forma que é empiricamente justificada, e teoricamente bem fundamentada”, finaliza Richardson. n Anthony DiMario, “To Punish, Parent, or Palliate: Governing Urban Poverty through Institutional Failure”, American Sociological Review, vol. 87, n. 5, 2022, p. 860-88.
uigi Zingales, professor de finanças na Booth School of Business da University of Chicago, estuda governança corporativa. A pesquisa que desenvolve questiona como os investidores e outros grupos, como clientes e colaboradores, transmitem seus valores e preferências aos executivos.
Para a maioria das empresas, atender às diferentes prioridades de muitos grupos pode parecer impossível. Milton Friedman, economista vencedor do Prêmio Nobel e defensor da teoria do livre mercado, argumentou que as empresas deveriam simplesmente se concentrar em seus resultados, maximizando os lucros a serem distribuídos como dividendos e usados da maneira que os acionistas quisessem. Mas Zingales vê as coisas de forma diferente.
Em um novo artigo com seu ex-assessor Oliver Hart, professor de economia da Harvard University e Prêmio Nobel, e Eleonora Broccardo, professora de economia da Università di Trento, na Itália, Zingales avalia a eficácia de duas estratégias que os grupos costumam empregar para induzir executivos a fazer mais do que apenas maximizar os lucros. Os pesquisadores verificaram que os investidores social e ambientalmente responsáveis podem influenciar a gestão e mudar a política corporativa para beneficiar o bem
maior – ao mesmo tempo que contribuem para os resultados da empresa.

Com um modelo teórico para comparar duas estratégias, os pesquisadores testaram a saída e a voz, termos criados para os tipos de pressão que os stakeholders podem exercer em uma empresa. Enquanto a saída significa “votar com os pés”, por meio de desinvestimentos ou boicotes a clientes e colaboradores, a voz se refere ao engajamento com a administração corporativa, em geral por meio do voto de acionistas, para comunicar suas preferências. As crescentes preocupações sociais e ambientais no ativismo acionista intensificaram a pressão para que os investidores efetuem mudanças. Mas qual estratégia os investidores devem seguir para impactar os resultados corporativos só recentemente passou a ser considerada.
Os pesquisadores construíram um modelo que assume que a maioria dos investidores é, ao menos, ligeiramente “pró-social” ou socialmente responsável e mantém carteiras “bem diversificadas” que incluem uma variedade de investimentos, e que os acionistas votarão de acordo com suas preferências. Com base nessas e em outras suposições básicas, Zingales
e seus colegas estabeleceram que a estratégia de voz é muito mais provável do que a de saída para alcançar resultados socialmente desejáveis.
Os pesquisadores citam como exemplo o dano ambiental causado pela poluição para melhor detalhar os incentivos e os custos de campanhas de desinvestimento e boicotes. Ao investigar um caso conhecido de 1984, quando a empresa química DuPont (atual Dow Chemical) confrontou uma decisão entre poluir o rio Ohio com uma substância tóxica e investir em incineração, os pesquisadores encontraram evidências de que a estratégia de saída não obteve bons resultados para o ambiente. A saída não apenas falhou em convencer a empresa a pagar pela limpeza, mas também atores que não estavam interessados no bem-estar social puderam minar a estratégia de saída. Investidores com mentalidade social que procuram punir uma empresa podem vender ações, baixar seus preços e atrair a atenção do público, mas uma consequência não intencional é que esses atores egoístas terão novas oportunidades de investimento para comprar ações e aumentar seus preços,
esmagando assim os incentivos para os executivos agirem.
Para os pesquisadores, o resultado surpreendente foi que a voz provou ser altamente vantajosa para promover mudanças corporativas. “O mundo de Friedman é conveniente, no qual você não precisa saber muito. Só que mais é melhor do que menos”, diz Zingales. “Tentamos maximizar os lucros e é isso. Mas e se os investidores não gostarem da maneira como a empresa está maximizando os lucros?”
Ao demonstrar que a maioria dos investidores estava disposta a aceitar ações com um preço ligeiramente mais baixo, desde que o impacto social de suas decisões superasse os custos, os pesquisadores derrubaram a visão convencional. “Este artigo fornece uma estrutura única por meio da qual o debate sobre a maximização do acionista versus a maximização do stakeholder pode ser resolvido”, diz Amit Seru, professor de finanças da Stanford Graduate School of Business. Os investidores alcançaram o resultado socialmente ideal ao se comunicar e se envolver com os executivos.
“A melhor maneira de fazer a diferença é engajar, não desinvestir”, afirma Zingales. “O desafio é que hoje a maioria das ações pertence a investidores institucionais, como a BlackRock, o que dificulta comunicar as preferências a uma empresa. Precisamos implementar mecanismos para transmitir essas preferências dos investidores às empresas.” n
omo muitos alunos de doutorado, Ting Zhang teve uma experiência de pós-graduação amplamente moldada pela mentoria que recebeu. Zhang credita seus mentores por ajudá-la a se sentir como uma parceira igual – não apenas uma colega júnior em busca de orientação profissional, mas também alguém que poderia oferecer oportunidades de aprendizado até mesmo para acadêmicos seniores. À medida que Zhang conduzia pesquisas em indústrias e carreiras, ela ainda refletia sobre a mentoria, impressionada com os significados muito diferentes atribuídos a ela. Conversando com gerentes, Zhang descobriu que alguns deles viam a mentoria como uma obrigação demorada – uma exigência imposta pelos departamentos de RH –, enquanto outros apreciavam a perspectiva de aprender com aqueles que estavam abaixo deles em uma hierarquia social.
Zhang, agora professora de administração de empresas na Harvard Business School, publicou um novo artigo com Dan J. Wang, professor de negócios na Columbia Business School, e Adam D. Galinsky, professor de liderança e ética e vice-reitor de diversidade, equidade e inclusão na Columbia Business School, que investiga como os mentores abordam a mentoria e de que maneira o envolvimento
deles afeta o aprendizado e repercute na carreira dos mentorados.
“Por que algumas pessoas vão para a mentoria vendo uma valiosa oportunidade de aprendizado que pode ter consequências em cascata sobre como os mentorados vivenciam o relacionamento, enquanto outras reservam pouco tempo para o relacionamento e não são tão engajadas?”, pergunta Zhang. “O que percebemos é que as pessoas têm direcionalidades (preferências e restrições) quando se trata de com quem podem aprender. As pessoas querem aprender, mas nem todas sentem que podem aprender com seus mentorados.”
Os pais de crianças pequenas podem estar familiarizados com a expressão mentalidade de crescimento, cunhada por Carol Dweck, psicóloga da Stanford University, que descreve a perspectiva dos alunos que acreditam que podem mudar e crescer com o tempo. Com foco na melhoria e não nos resultados, a mentalidade de crescimento inclui um componente de direcionalidade. Com base no trabalho de Dweck, os pesquisadores projetaram experimentos para medir como a direcionalidade de aprendizagem dos indivíduos se relaciona com sua eficácia como mentores.
Em três estudos correlacionados, os pesquisadores testaram a ligação entre a direção descendente de aprendizagem dos mentores, ou a abertura para aprender com aqueles que se encontram abaixo deles na hierarquia organizacional, e seu envolvimento com os
mentorados. Suas descobertas demonstram “como os mentores veem o direcionamento de seu próprio aprendizado impactando como efetivamente podem expandir o aprendizado dos outros”. Para a maioria das pessoas, olhar para baixo em busca de aprendizado não é intuitivo ou reflexivo, mas os pesquisadores observaram que aqueles que viam as interações de mentoria como oportunidades, e não como um fardo, produziam mentorados com melhores resultados de aprendizagem. Um quarto e último experimento manipulou a direção de aprendizagem para confirmar a causalidade: uma orientação de aprendizagem descendente aumentou o envolvimento do mentor, o que melhorou os resultados dos mentorados.
“Esta pesquisa afirma uma espécie de enigma para as organizações: a hierarquia reflete quem tem poder, mas não necessariamente quem tem conhecimento e experiência”, diz Joe Magee, professor de administração e organizações na Stern School of Business da NYU. O desenvolvimento de habilidades em um determinado domínio não se traduz necessariamente em habilidades de mentoria, e os melhores profissionais não são necessariamente os melhores conselheiros.
No primeiro estudo, os pesquisadores entrevistaram cerca de 500 profissionais para determinar se o sentido da aprendizagem indicava o grau de envolvimento como mentor.
O segundo estudo procurou o mecanismo subjacente correspondente entre um sentido de
aprendizagem descendente e um alto grau de engajamento como mentor. Quando os profissionais viram a mentoria não como uma obrigação, mas como uma oportunidade de obter conhecimentos e habilidades relevantes dos mentorados, dedicaram mais tempo e energia ao relacionamento.
O terceiro estudo pesquisou mentores em um campo de treinamento de programação da ciência da computação que monitorava o desempenho do mentorado ao longo do tempo. Em entrevistas simuladas, os pesquisadores avaliaram os participantes e usaram uma escala para perguntar: “Quanto você acha que pode aprender com alguém acima de você, lateral a você e abaixo de você?”. Com as respostas inseridas em um modelo, os pesquisadores estabeleceram uma forte correlação entre aprendizado descendente e melhores resultados do mentorado. Eles também descobriram que o sentido de aprendizagem era maleável. Incentivar os participantes a reconhecer exemplos de aprendizado “de baixo” os ajudou a ver a mentoria como uma via de mão dupla, um relacionamento com o qual poderiam se beneficiar.
“Zhang e seus colegas nos mostram que, quando os mentores abordam o relacionamento de mentoria com o objetivo de aprender tanto quanto com o mentorado, ambas as partes se beneficiam e o relacionamento é duplamente gratificante”, reconhece Magee. n
Em Manifesto pela Educação Midiática, David Buckingham defende a busca por uma nova “alfabetização” de códigos e léxico para enxergar o mundo: a tecnologia como linguagem.
arte define o espírito do tempo em que vivemos. O agente invisível e implacável do zeitgeist (em alemão, “espírito do tempo”) foi âncora na filosofia ocidental por dois séculos, sempre focado na discussão sobre a arte. Na tentativa de compreender o que a mediação tecnológica significa em nossa vida hoje, esse olhar pode ser fundamental. Como exemplo, dois homens de nome Frank, um alemão e outro norte-americano, somados a um internauta desconhecido, poderiam resumir o mundo que nos cerca.
O fotógrafo alemão Frank Kunert (1963) registra o mundo em miniatura, uma mistura de delicadeza e cinismo. Cria maquetes minúsculas que representam locais cotidianos (interiores de casas, indústrias) e amplia a escala por meio da fotografia. Já o músico e compositor norte-americano Frank Zappa (1940-1993), com muita ironia, tornou-se ícone do rock experimental para poucos, ao trazer elementos da música erudita para criticar a vida de consumo, sobretudo nos Estados Unidos – como um guerreiro da Escola de Frankfurt, fazia da mídia de massa, especialmente a TV, seu alvo principal nas letras e atitudes.
Mas foi um ilustre desconhecido que deu sentido a esses dois mundos. Criou um meme, a peça da cultura digital de nosso tempo, que se tornou célebre: sobre uma foto de miniatura de um chalé, criada por Kunert, em que ele conecta a descarga de um vaso sanitário a um aparelho de TV, o internauta implantou a imagem de um Zappa cínico, com meio sorriso no rosto a olhar para a câmera. Como se dissesse: “Eu avisei que seríamos inundados por essa porcaria”.
O mundo das mídias de massa, a criação digital, a cultura popular e a erudita foram
comprimidas em uma imagem mimética que circulou o mundo, sem fronteiras.
O meme-charada é uma metalinguagem do que vivemos desde o advento do rádio, período que o professor britânico David Buckingham (da Loughborough University) tem como alvo em seu livro Manifesto pela Educação Midiática (Edições Sesc, São Paulo, 2022). Afinal, já nos anos de 1930, a educação formal começou a se chacoalhar quando as crianças levavam informações para a sala de aula não mais apenas dos livros ou dos papos com amigos, mas daquela caixa profana que começara a ocupar o centro das salas de estar no período entreguerras. O Telemedia Council e o Center for Media Literacy logo se estabeleceram como as primeiras organizações não governamentais a tratar do tema da influência das mídias na educação. A escola deixava aos poucos de ser o único templo do saber.

O que fazer com a onipresença da mídia? Essa questão ulula na mente de educadores e famílias desde a criação do primeiro veículo de comunicação em massa. Ignorá-la sempre foi o pior caminho – percebeu-se na prática. “Pensar criticamente”, como o próprio Buckingham se debruça em um capítulo do livro, é um termo problemático e que caiu em um “lugar-comum” entre educadores. Entre analistas de discurso oriundos do pensamento de Horkheimer, que viam como solução defenestrar o aparelho de TV, até otimistas como os líderes da Mídia 2.0, que acreditam que a criatividade impera quando trabalhamos com o tema, a escola foi tentando lidar com as tentações da mediação – até os tempos algorítmicos de desinformação e notícias falsas transformarem quase tudo em terra arrasada.
Entre idas e vindas de conceitos e práticas, a educação midiática tem sido uma episteme vencedora, entre as centenas que surgiram em quase um século. Ela parte do princípio de que a leitura, análise crítica e produção de mídia são fundamentais para a cidadania contemporânea. O que não significa redenção por parte das políticas educacionais, pois o ritmo de desenvolvimento da pedagogia não acompanha nem mesmo o avançar curricular dos cursos acadêmicos de formação de professores, quiçá a fome voraz dos empresários do Vale do Silício. O conceito, portanto, não é nem unanimidade na academia, tampouco se faz presente como deveria em escolas do mundo todo.
A partir desse diapasão, a importância do livro já se justifica. Buckingham é um britânico no sentido amplo do termo, da primeira à última página. Lúcido e preciso, escrutina como as tendências na análise e produção de mídia por estudantes ganharam e perderam importância nas políticas públicas do Reino Unido, e em outros países da Europa, e como a educação midiática não é um elemento solto dentro da teia de confusões que os currículos globais enfrentam para tentar corresponder aos desafios do tempo. Ao contrário, esses têm envelhecido sem dignidade, devido a batalhas políticas e sindicais, e se tornado símbolos da própria crise educacional generalizada.
Para Buckingham, é imperativo investir na educação midiática, mas também na regulação dos meios digitais. Nesse ponto, o livro se faz atualíssimo; o autor teme que o conceito sirva de barganha para justificar uma internet e algoritmos livres de qualquer regulação, como uma panaceia para o bem-viver. Também receia, com razão, que o termo, que não é acadêmico, mas forjado ante a uma ampla frente de especialistas e ativistas, queira englobar todas as mazelas ligadas ao universo digital: da cibersegurança aos princípios éticos que regem os domínios comerciais das big techs. Ele cita o esforço global da Unesco em abraçar o tema em um guarda-chuva mais amplo, Alfabetização Midiática e Informacional (AMI), como uma iniciativa louvável, mas incompleta.
O outro ponto de atenção, para o autor,
Nessa tentativa de cercar de que maneira a educação midiática se conecta com outras questões contemporâneas, há também um recorte histórico e raro em publicações sobre o tema. Entretanto, ao citar a abordagem “Frankfurtiana” que, para o autor, permanece atual ao lidarmos com as mídias algorítmicas, há um excesso de ingenuidade. Numa lógica de rede em que reinam a agência não humana de algoritmos, a presença intensa da inteligência artificial e o uso massivo de dados, teorias pouco flexíveis e ligadas à mídia de massa podem ser pouco eficientes. Como dar conta da historicidade de cada ponto que integra uma rede composta por humanos e objetos, da força ou fragilidade das conexões entre eles e dos milhares de contextos presentes?
Em outras palavras: como analisar criticamente a navegação de uma criança do Nepal,
“neomaterialistas”, provê um olhar sobre os elos e objetos da rede – Bruno Latour (1947-2022) ousou encarar esse desafio em uma profícua obra que, no Brasil, tem no pesquisador André Lemos (1962) um expoente. A tecnopolítica, os estados-plataforma, a posse sobre os dados e os princípios de isonomia da rede são temas que tangem a educação midiática e que não podem ficar de fora do debate atual.
Num desencadeamento não acadêmico, com poucas citações, este Manifesto é de leitura simples e pode servir como um farol de clareza para quem deseja se iniciar no tema – que agora conta até com um departamento com esse nome na Secretaria de Comunicação da Presidência da República, que pretende desenvolver a educação midiática nos currículos locais do Brasil. Os méritos deste livro são muitos, mas vale sublinhar, como Buckingham deixa claro, que a educação midiática sozinha não é suficiente para vencer qualquer batalha contra a desinformação. Trata-se de um ecossistema de ações que envolvem a regulação, programas de aprendizado ao longo da vida (lifelong learning) e políticas públicas de proteção ao cidadão.
é sobre qual modelo de educação midiática estamos criando e difundindo. Dentro da batalha conceitual, houve quem acreditasse, e apostasse, que educar para as mídias significava desenvolver fluidez em professores e alunos para utilizar as mais novas tecnologias educacionais. Algo que funcionasse como um manual de instruções para a indústria. Essa mistura de objetivos é presente até hoje e causa ainda mais incerteza sobre os valores e características dessas práticas. Estaríamos sublinhando a importância do uso de tecnologia educacional, que muitas vezes pouco agrega aos métodos de aprendizagem, ou criando um arcabouço ético para enfrentar a voracidade do mercado? Buckingham vai além, ao buscar uma nova “alfabetização” de códigos e léxico para enxergar o mundo; a tecnologia como linguagem, tal qual o ilustre internauta do início deste texto que “remixou” imagens para a criação de uma outra proposta de compreensão.
que acessou um site de compras norte-americano, e cujos dados foram parar na base do Partido Republicano daquele país, que, por sua vez, inunda sua caixa postal com anúncios da pré-candidatura de Donald Trump? Um olhar sobre a privacidade de dados é o somente mais evidente e simples aspecto dessa trama, pontuado pelo autor.
O último capítulo flerta com o tema, mas deixa um desejo de continuidade. Os próximos estudos devem mergulhar justamente no tema da inteligência artificial (IA), que rege boa parte da mediação do mundo hoje. Torna-se impossível compreender um processo comunicativo sem esmiuçar o funcionamento, os vieses, os impactos éticos e as particularidades de um algoritmo de IA. Essa mudança de paradigma não exige somente uma transformação de abordagem pedagógica, mas da lógica intrínseca ao processo.
Nesse sentido, uma série ampla de estudos e teorias, que têm sido chamados de
O Manifesto pela Educação Midiática foi publicado originalmente pela Polity Books dentro de uma série de outros manifestos que retratam aspectos importantes da cidadania em tempos digitais, como jornalismo e mídia. Fazer parte de um quebra-cabeça mais amplo ajuda na compreensão da complexidade do tema. A versão em português traz o prefácio da educomunicadora Januária Cristina e o texto de orelha do jornalista e professor da ECA-USP Eugênio Bucci, que auxilia o leitor no entendimento do contexto.
Na abertura, permanece o principal desafio para qualquer pesquisador estrangeiro no Brasil, que é compreender as nuances do ecossistema de mídias daqui: internet velocíssima inunda os celulares dos executivos da avenida Faria Lima, em São Paulo, enquanto as notícias correm o rio Tapajós, no Pará, por meio de um alto-falante acoplado a uma voadeira. Desenvolver educação midiática nesse contexto é mais desafiador que remixar Kunert e Zappa em um meme. n
A educação midiática sozinha não é suficiente para vencer a desinformação. [É preciso] ações que envolvem a regulação, programas de aprendizado ao longo da vida e políticas públicas de proteção ao cidadão.ALEXANDRE LE VOCI SAYAD é educador, jornalista e escritor. Autor de Inteligência Artificial e Pensamento Crítico, entre outros. É mestre em Inteligência Artificial e Ética pela PUC-SP. Apresenta o programa Idade Mídia, no Canal Futura.
Ruha Benjamin afirma que a transformação social que buscamos começa no indivíduo.
POR MEHR TARAR
uma certa ousadia usar a metáfora de um vírus para representar um novo marco para mudanças sociais. Mas é justamente isso que faz Ruha Benjamin em seu cativante novo livro, Viral Justice: How We Grow the World We Want (Justiça viral: Como cultivar o mundo que desejamos, em tradução livre)
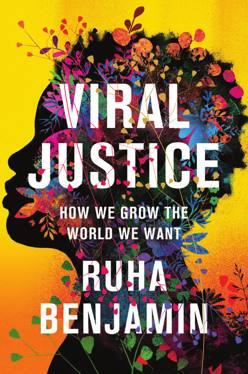
“Vírus não são nosso maior inimigo”, sustenta Benjamin, que é professora de estudos afro-americanos na Princeton University e diretora fundadora do Ida B. Wells Just Data Lab. Em Viral Justice, ela encara o conceito de vírus não como causador de uma doença mortal e transmissível, mas como modelo para uma construção coletiva de mundo – o que ela chama de reworlding (“remundar”), ou reordenar nossos valores e prioridades.
A viralidade é o princípio organizador de sua teoria da transformação social – cuja disseminação viral começa no indivíduo e se expande para além dele mediante engajamentos com outras pessoas, influenciando de forma positiva suas escolhas e ações. Em última análise, essa visão “exige que cada um de nós confronte individualmente o modo como participa de sistemas injustos, mesmo quando, em teoria, defende a justiça”. Ao fazê-lo, o vírus não é algo que acontece conosco, mas algo sobre o qual temos algum poder. “Este é um chamado à ação, para que indivíduos recuperem o poder sobre como intenções, hábitos e ações moldam o ambiente mais amplo – tanto quanto são moldados por ele”, ela observa.
Combinando autobiografia e estudos sociológicos, Benjamin analisa as camadas de discriminação internas aos sistemas de saúde, de educação e de encarceramento dos Esta-
dos Unidos, a fim de mostrar de que modo malefícios sistêmicos fazem uso de “múltiplos caminhos para se entranhar em nós”. Para lançar luz ao constante medo de violência que os americanos negros vivenciam, ela conta sua história pessoal. “Durante a maior parte da minha infância, eu dormia na defensiva”, observa. “Tiros imaginários interrompiam meus sonhos noite após noite. Foi por isso que a morte de Breonna pela polícia no meio da noite me afetou tão profundamente.” Breonna Taylor estava dormindo, quando sua casa foi alvejada 20 vezes pela polícia em Louisville, Kentucky, em março de 2020. O argumento e os exemplos que se seguem no livro são uma continuação do tema de ameaça, que inclui não apenas a realidade da violência e de seus efeitos cumulativos intergeracionais, mas também o temor incessante que se impregna num nível celular.
Esses efeitos cumulativos são conhecidos como “enfrentamento”, termo usado por Benjamim para descrever “como incorporamos estressores e opressores no ambiente mais amplo e como esse processo provoca doenças evitáveis e morte prematura”. Eles produzem vários tipos de desigualdade e têm sua origem em sistemas humanos. “Ambientes hostis são feitos e refeitos diariamente por meio de automatismos tanto de instituições quanto de indivíduos”, afirma.
Assim como o próprio conceito de vírus, “enfrentamento” tem valência positiva e negativa: os enfrentamentos deterioram um corpo, mas o termo também é aplicado para descrever persistência – como em “enfrentar a tempestade”.
O racismo incrustado no sistema de saúde, por exemplo, é camuflado pelos pretextos repetidos e imprecisos, que remetem a doenças preexistentes atribuídas à genética, a uma suposta hesitação ante vacinas e tratamentos médicos, e à “pele espessa” dos negros, que “não racha” – para sugerir que pessoas negras não sentem dor da mesma forma que as brancas. Essa culpabilização salienta a importância do modo pelo qual os enfrentamentos podem servir como “uma ideia de saúde pública e como um referencial para se compreender e desafiar a maneira com que as vidas e o futuro de todos são afetados pelo racismo contra o negro”, diz Benjamin.
O enfrentamento é também um produto de séculos de escravidão, encarceramento e de um permanente policiamento e vigilância. Essa violência de Estado é uma brutalidade institucionalizada que, observa Benjamin, provoca elevação da pressão sanguínea, acelera o envelhecimento e causa problemas de saúde mental. Assim, ela reitera, as disparidades raciais de saúde não são biológicas, e sim socialmente produzidas ao longo do tempo.
Mas ainda que as mudanças estruturais, imersas em burocracia e processos políticos, sejam intrinsicamente lentas, Viral Justice não sucumbe ao desespero. Em vez disso, defende que a autopercepção e a responsabilização sejam os pontos de partida para erradicar esses malefícios sistêmicos.
A autora propõe uma espécie de “faça você mesmo”, prática que deve ser cultivada com o intuito de compensar uma ineficácia institucional. Transformar o enfrentamento não é algo que vá demandar poderes mágicos. “Demanda apenas que comecemos a planejar – encorajando-nos mutuamente, reinventando nossas relações”, diz ela. “Irrigando as alternativas que desejamos cultivar e sempre colocando amor em tudo o que fazemos.”
Benjamin observa que “a ameaça jamais foi o indivíduo comum ou ‘o outro’. Foi sempre o indivíduo no espelho”. Por isso, o caminho a seguir “requer que se cultivem novos hábitos internamente, semeando modos restaurativos de estar juntos interpessoalmente, desenraizando práticas de desigualdade institucionalmente e plantando possibilidades alternativas estruturalmente”.
microempresa”, sugere a autora, “talvez possa começar dispondo um neon em que se leia ‘A supremacia branca só vai acabar quando os brancos a virem como um problema que eles precisam resolver, e não como um problema dos negros com que precisem empatizar’, como fez a Glory Hole [loja de donuts] na Gerrard Street em Toronto”.
As soluções propostas para injustiças e enfrentamentos sistêmicos apontam para uma abolição. Benjamin reitera a importância da retirada de financiamento e da abolição definitiva do “sistema de policiamento, punição e encarceramento”, acrescentando que “um elemento-chave da empatia mediante justiça viral encontra-se intimamente atrelado a experimentos na criação de um mundo sem polícias”.
Como escritora vivendo no Paquistão, ler a crônica de Benjamin sobre a escravização
nossas sociedades foram construídas”. Em vez disso, precisamos de um ambiente de aprendizado transformativo que “disponha uma fundação diferente, tijolo por tijolo, nos corações e mentes de jovens cuja confiança só podemos conquistar dizendo a verdade”.
Suas recomendações incluem reinventar escolas “como laboratórios para cultivar empatia e solidariedade”; investir em “mediação e processos de justiça restaurativa” em escolas; priorizar “o recrutamento e a retenção de professores não brancos”; e integrar “ao currículo a história negra e os estudos étnicos”. A última diretriz é hoje um crucial ponto de discórdia em todos os Estados Unidos, uma vez que pais e professores – desconstruindo o ensino de história sob a bandeira da “teoria crítica da raça” – estão a denunciar a educação infantil em função das inúmeras histórias que têm sido suprimidas no país.
Essa estratégia depende de uma disposição pessoal para se modificar – para trabalhar em si mesmo –, a fim de melhorar a saúde e o bem-estar da nação. À luz da crescente violência contra comunidades marginalizadas e da intensificação das divisões políticas, esse otimismo pode, em alguns momentos, parecer ambicioso demais ao leitor.
Mas a viralidade, enfatiza Benjamin, é o caminho a ser seguido que nos ajuda a vislumbrar de que modo nossa ação individual pode fazer da mudança sistêmica e social uma realidade. O conceito representa o poder dos relacionamentos e das conexões interpessoais. O trabalho interno começa por fazermos perguntas a nós mesmos, pela interrogação de nossas crenças e da linguagem que usamos. Micromudanças podem acontecer mediante o uso intencional de linguagem orientada pela justiça ou por formulações que explicitem a injustiça sistêmica ao torná-la gritante. “Se você for dono de
dos negros nos Estados Unidos me fez lembrar do fantasma da colonização global do Império Britânico e dos efeitos de enfrentamento provocados pelas políticas opressivas que ainda fervilham sob a superfície em muitos países, incluindo o subcontinente indiano – Índia, Paquistão e Bangladesh. A história britânica de excessos imperiais continua amplamente excluída de seus livros escolares, o que sugere ausência de remorso e de introspecção nacional por parte da Grã-Bretanha. Por isso, a ideia de reparações parece improvável quando tantas pessoas estão dispostas a, no máximo, reconhecer erros de maneira cosmética, mas não a apoiar reparações.
Assim sendo, para concordar com Benjamin, um reworlding dos Estados Unidos ou da Grã-Bretanha, ou de qualquer outro país imperialista, faz-se impossível enquanto suas instituições não enfrentarem e repararem o que ela chama de “mentiras fundacionais –como o mito da meritocracia – sobre as quais
As páginas finais do livro são um testamento de resiliência humana, de sentido encontrado em pequenas ações, imbuindo de beleza o trivial e cultivando um jardim com uma semente. Quando um indivíduo se importa com o outro, um bairro se torna uma comunidade; uma comunidade, uma cidade; uma cidade, um país; um país, um continente; e um continente, o mundo inteiro.
Atos interpessoais de benevolência multiplicam-se em empatia coletiva, pondo em movimento o processo de reworlding, no qual nenhum ato de apoio e assistência é irrelevante. “Justiça viral”, afirma Benjamin, “não tem que ver com distopia, ou com utopia, mas com nóstopia.”
Num momento em que o coronavírus descortinou uma nova realidade e em que nós como sociedade ainda não choramos por todos aqueles que perdemos – muitos sem nem mesmo dizer adeus, sem um último abraço e sem derradeiros ritos sociais ou religiosos –, precisamos lembrar do “nós” no que parece ser nossos mundos cada vez mais compartimentados. O Viral Justice é aquela “beleza teimosa, uma alegria que se recusa a ajoelhar-se em derrota” num mundo afligido por uma pandemia e num país, os Estados Unidos, maculado por racismo e colorismo. n
As páginas finais do Viral Justice, de Ruha Benjamin, são um testamento de resiliência humana, de sentido encontrado em pequenas ações e do cultivo de um jardim com uma semente.
Atalaia do Norte ganhou o noticiário global em 2022. Há um ano, na fronteira com o Peru, a região próxima da cidadezinha no interior do estado do Amazonas mais de mil quilômetros distante de Manaus foi palco do trágico assassinato do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Philips.
Esse município de menos de 20 mil habitantes ameaçado pelo tráfico de drogas e pesca ilegal ocupa uma das últimas posições no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDEM) entre os 5.570 municípios brasileiros e, embora tenha aumentado nos últimos anos, seu Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) se mantém abaixo da
meta. O que se traduz em crianças e adolescentes sem aprendizado adequado de matemática e de língua portuguesa.
É ali que a OMUNGA Grife Social e Instituto tem contribuído para transformar a vida de estudantes e professores, com propostas de atividades de promoção a leitura, escrita e democratização do acesso aos livros. A OMUNGA atua em regiões distantes ou isoladas sem ou com pouca presença de organizações sociais, como o sertão do Piauí, interior de Roraima e Angola. No Vale do Javari, planeja construir a primeira biblioteca de Atalaia do Norte. Conheça o projeto e veja como apoiar essa iniciativa acessando omunga.com.br



O Instituto Humanitas360 trabalha para construir sociedades mais justas e igualitárias em diversos países da América Latina, graças às nossas equipes no Brasil, EUA e com apoio de conselheiros e colaboradores na Colômbia, Chile, Uruguai, México, Argentina, Bolívia e Guatemala.

Conheça alguns de nossos projetos:


Cooperativas Sociais - Capacitação profissional e geração de renda para pessoas privadas de liberdade, egressas do sistema prisional e vítimas de violência doméstica, através de cooperativas sociais formadas dentro e fora de penitenciárias.
LAB360 - Cessão de computadores para unidades prisionais para que pessoas privadas de liberdade possam receber ensino a distância, fazer videoconferências com seus familiares.
Índice de Engajamento Cidadão das

Américas - Comparativo do nível de engajamento e participação cívico-social dos habitantes de países do continente em parceria com a The Economist Intelligence Unit (EIU).

Tecendo a Liberdade - Documentário revelando as contradições do sistema de Justiça Criminal brasileiro sob a perspectiva das mulheres que trabalham nas cooperativas sociais apoiadas pelo H360.

Nosso propósito é reduzir a violência, promover a cidadania ativa, justiça climática e transparência.