memória e gestão

a memória social como instrumento participativo do planejamento urbano na cidade de São Bernardo do Campo
Lais de Carvalho Macedo
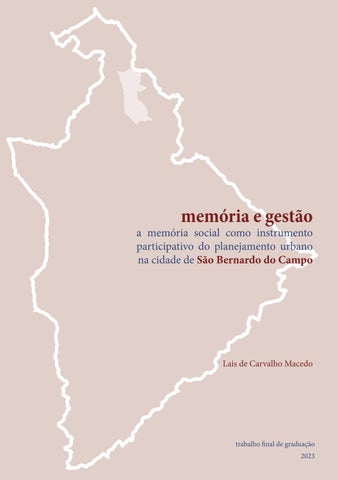

a memória social como instrumento participativo do planejamento urbano na cidade de São Bernardo do Campo
Lais de Carvalho Macedo
a memória social como instrumento participativo do planejamento urbano na cidade de São Bernardo do Campo
trabalho final de graduação curso de Arquitetura e Urbanismo Universidade Municipal de São Caetano do Sul
orientador: Prof. Dr. Ênio Moro Junior
avaliadora interna: Profa. Dra. Daniela Flores
avaliadora externa:
Profa. Dra. Carolina Akemi Morita Nakahara 2023 São Caetano do Sul

Aos meus pais, Robson e Patrícia, por todas as paredes que me deixaram colorir.

Ao meu orientador, Ênio Moro Junior, por ter me acolhido no curso de forma tão amável e pelas imensuráveis contribuições, disponibilidade e incentivo ao longo do trabalho.
À professora Franceli Guaraldo, pelos anos de suporte e parceria para a realização da PIC-USCS.
Aos meus amigos, por todas as risadas que revitalizavam a energia. Em especial para aqueles que fiz ao longo da graduação e que foram suporte nessa jornada.
Ao Pedro Henrique, por todo amor, companheirismo e compreensão. Obrigada por estar ao meu lado.
Ao Caio Queiroz, por ter me dado a mão no primeiro dia do curso e nunca mais ter soltado. Obrigada por também ser família.
Aos meus irmãos, Raul e Luiz, pela vida compartilhada. Ao meu pai, Robson, e minha mãe, Patrícia, por serem o maior apoio que eu poderia ter. Sou imensamente grata a vocês por tudo que sou, tudo o que tenho e por toda felicidade que me transborda.
Agradeço especialmente aos participantes dessa pesquisa que possibilitaram a conclusão deste trabalho.
O presente trabalho tem como objetivo principal investigar a relação entre as memórias sociais dos habitantes de São Bernardo do Campo e as diretrizes de planejamento urbano da cidade. Para tanto, foram realizadas entrevistas com moradores da região, a fim de coletar informações sobre suas experiências e memórias em relação ao espaço urbano da cidade. A partir da análise das entrevistas, foi possível identificar diversos elementos que compõem a memória social de São Bernardo do Campo, tais como as transformações ocorridas na cidade ao longo dos anos, a relação dos moradores com espaços públicos e privados, a importância de determinados pontos turísticos e culturais, entre outros.
Com base nessas informações, foram propostas novas diretrizes de planejamento urbano para a cidade, levando em consideração não apenas aspectos técnicos, mas também as memórias e experiências dos habitantes. Dentre as propostas, destacam-se a criação de novos espaços públicos de convivência, a preservação e valorização de patrimônios históricos e culturais, a ampliação de áreas verdes, e a melhoria da infraestrutura urbana em geral. Por fim, o estudo conclui que a incorporação das memórias sociais dos habitantes de São Bernardo do Campo no planejamento urbano da cidade pode contribuir para a construção de uma cidade mais inclusiva, sustentável e humana, que atenda às necessidades e desejos da população local. Além disso, destaca-se a importância da participação ativa da comunidade no processo de planejamento urbano, garantindo assim uma gestão mais democrática e transparente.
Palavras-chave: Memória social; Espaços Urbanos; Arquitetura; Cidade; São Bernardo do Campo; Planejamento Urbano.
The main objective of this study is to investigate the relationship between the social memories of the inhabitants of São Bernardo do Campo and the urban planning guidelines of the city. For this purpose, several interviews were conducted with residents of the region to collect information about their experiences and memories regarding the urban space of the city. Through the analysis of the interviews, it was possible to identify several elements that make up the social memory of São Bernardo do Campo, such as the transformations that have occurred in the city over the years, the relationship of residents with public and private spaces, the importance of certain tourist and cultural points, among others. Based on this information, new urban planning guidelines were proposed for the city, taking into account not only technical aspects but also the memories and experiences of the inhabitants. Among the proposals, the creation of new public spaces for social interaction, the preservation and valorization of historical and cultural heritage, the expansion of green areas, and the improvement of urban infrastructure in general stand out. Finally, the study concludes that the incorporation of the social memories of the inhabitants of São Bernardo do Campo in the urban planning of the city can contribute to the construction of a more inclusive, sustainable, and humane city that meets the needs and desires of the local population. In addition, the active participation of the community in the urban planning process is emphasized as an important factor in ensuring a more democratic and transparent management.
Keywords: Social memory; Urban spaces; Architecture; City; São Bernardo do Campo; Urban Planning.
considerações iniciais objetivos justificativa metodologia a memória coletiva memória e espaço o processo de construção da imagem da cidade
breve histórico: séc. xvi ao xix primeira metade do séc. xx: os primórdios da industrualização segunda metade do séc. xx: transformação em metrópole séc. xxi: a são bernardo contemporânea
procedimentos de pesquisa qualitativa aplicação da pesquisa análise dos resultados obtidos
planejamento e qualidade de vida experiência em chicago - illinois, eua: chicago go to 2040 experiência em vancouver - c. britânica, can: “vancouverismo” experiência em medellín - antioquia, col: projecto urbano integral
análise de diretrizes do plano diretor memória social como instrumento possíveis caminhos
Esta proposta parte, inicialmente, do interesse em participar de um projeto maior denominado “Memórias do ABC” e, e especificamente, da pesquisa “Memórias e Representações dos Espaços Urbanos, da Arquitetura e do Design das Cidades do ABC Paulista”, na qual está sendo desenvolvida uma pesquisa sobre memória e o patrimônio cultural das cidades da região do ABC, e trata especificamente da memória e sua relação com os espaços urbanos, a arquitetura e o design das cidades do ABC. Essa motivação contribui na formação e interesse no desenvolvimento da pesquisa como elemento essencial para a atuação acadêmica.
A partir da relação entre memória, espaço e lugar, a proposta é fazer uma leitura da Cidade de São Bernardo do Campo após a segunda metade do século XX. O principal objetivo é construir uma metodologia que possa utilizar as memórias sociais construídas a respeito da cidade para delinear a representação do espaço urbano e utilizá-las a favor da criação de novas diretrizes urbanas.
Ao longo do trabalho será tratado como a dimensão da memória coletiva é importante para a representatividade do espaço e dos monumentos patrimoniais, uma vez que os aspectos de memória de um determinado espaço da cidade não se limitam à visão técnica ou à visão acadêmico-histórica. Ao considerar a memória social como um elemento fundamental na construção da cidade, é possível criar um ambiente mais democrático e inclusivo, que considere as diferentes perspectivas e experiências dos seus habitantes. Além disso, a participação da sociedade no processo de planejamento urbano é fundamental para que sejam criadas soluções que atendam às necessidades e demandas da população. Nesse sentido, a memória social pode ser um instrumento participativo, permitindo que a comunidade seja ouvida e que os seus anseios e expectativas sejam levados em consideração nas decisões sobre o desenvolvimento urbano. Isso pode garantir que as novas diretrizes sejam mais inclusivas, democráticas e socialmente justas, atendendo aos interesses e necessidades de todos os segmentos da população. Partindo dessa premissa, o planejamento urbano pode se tornar mais efetivo e integrado, com soluções mais adequadas às necessidades da população. Desse modo, em linhas gerais, o objetivo do trabalho é investigar sobre a memória das experiências e as vivências dos moradores da cidade de São Bernardo relacionadas aos espaços urbanos e às edificações e transformá-las em possíveis diretrizes que atendam as demandas populares.
Tendo como objeto de estudo a área central de São Bernardo do Campo, o objetivo geral deste trabalho é levantar, analisar e compreender a participação da memória social relacionada aos espaços urbanos e a arquitetura para subsidiar práticas de planejamento urbano a partir da área central de São Bernardo do Campo.
Como objetivo específico do processo de pesquisa, podemos relacionar: identificar fragmentos de percepções espaciais da cidade de São Bernardo do Campo, considerando as manifestações ligadas à arquitetura e ao urbanismo, que envolvem as edificações e os espaços urbanos do centro da cidade a partir de análises do processo de formação da imagem e do imaginário, como referências para novas diretrizes do planejamento urbano.
O município de São Bernardo do Campo é um dos mais importantes do Estado de São Paulo. Faz parte da sub Região Metropolitana de São Paulo, que compõe uma das regiões mais industrializadas do país, com importância relevante na produção de riquezas de São Paulo. Assim, dado o grau de significância do município, julga-se necessárias políticas de desenvolvimento e expansão urbana que acompanhem o processo de crescimento da cidade com a participação dos cidadãos que a compõem, visando uma relação que aproxime o olhar técnico - social - legislativo.
O trabalho articula as questões da memória, identidade e cultura das cidades da região do ABC, e particularmente da cidade de São Bernardo do Campo, considerando que existe uma relação direta entre memória e identidade sendo que uma nutre a outra produzindo uma trajetória e uma narrativa de vida. Através do processo de narrar as pessoas ordenam e tornam coerente os acontecimentos significativos e experiências de sua vida, que se situam no espaço e no tempo.
Esse trabalho está alinhado com o documento da ONU denominado “Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável” para 2023 que, no capítulo 11, indica a necessidade de pensar as cidades e assentamentos humanos como inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis, e propõe “aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e as capacidades para o planejamento e gestão de assentamentos humanos participativos,
memória e gestão
integrados e sustentáveis, em todos os países.” (ODS 11.2, da ONU). Desse modo, essa pesquisa possibilita o estabelecimento de diversas diretrizes voltadas ao planejamento urbano partindo da instrumentalização do contato popular com memórias sociais, buscando maneiras de tornar aplicável a visão da população nesse processo e permitindo uma melhor qualidade de vida dos moradores da cidade de São Bernardo do Campo e da região do ABC como um todo.
O trabalho em questão utilizou uma metodologia híbrida para estudar a relação do indivíduo com a cidade. Para isso, foi realizada uma análise da bibliografia especializada, buscando diferentes perspectivas de autores e campos do conhecimento sobre o tema. Entre as obras estudas, tivemos como principal referência “A Imagem da Cidade”, do urbanista Kevin Lynch; “Paisagem Urbano”, do arquiteto Gordon Cullen e “Acupuntura Urbana”, do arquiteto Jaime Lerner. Essa etapa permitiu uma compreensão mais ampla e teórica das questões envolvidas na relação do indivíduo com a cidade e a construção espaço , bem como a identificação de conceitos e termos-chave que permeiam o debate. Além disso, foi realizada uma pesquisa analítica de caráter qualitativo, a partir de entrevistas com indivíduos que vivem e frequentam a cidade de São Bernardo do Campo. Essa etapa permitiu a coleta de dados empíricos e a identificação de experiências concretas de indivíduos em relação à cidade. Através das entrevistas, foi possível entender como esses indivíduos vivenciam o espaço urbano, suas percepções e expectativas em relação à cidade, bem como as relações sociais e culturais que se estabelecem no contexto urbano. A combinação da análise bibliográfica e da pesquisa qualitativa permitiu uma abordagem mais abrangente e aprofundada sobre a relação do indivíduo com a cidade. Ao utilizar diferentes fontes de informação, foi possível enriquecer a análise e evitar interpretações unilaterais. Além disso, a metodologia híbrida adotada permitiu uma abordagem mais completa e complexa do tema, levando em consideração tanto a dimensão teórica quanto a dimensão empírica da relação do indivíduo com a cidade.
A memória coletiva é uma construção social que se desenvolve ao longo do tempo e é transmitida de geração em geração, sendo moldada pelas relações sociais, instituições e práticas culturais. Ela é uma construção dinâmica, em constante transformação e atualização, conectando as três dimensões temporais: ao ser evocada no presente, remete ao passado, mas sempre tendo em vista o futuro, e por isso é considerada uma memória viva. Isso se dá pelo fato de que a memória coletiva não é uma lembrança estática e fixa do passado, mas sim algo que está sempre em evolução, influenciado pelas experiências e mudanças sociais que ocorrem ao longo do tempo. A memória coletiva é moldada pelas interações sociais e pelas narrativas que são construídas em torno dos eventos e experiências compartilhadas. Assim, a memória coletiva é uma memória viva porque está sempre sendo recriada e atualizada pelos indivíduos e grupos que a compartilham. Ela é um reflexo da identidade cultural de uma comunidade ou sociedade e desempenha um papel fundamental na formação da consciência coletiva e na construção da história e da tradição.
O sociólogo francês Maurice Halbwachs (1990) propôs uma abordagem da memória como um processo coletivo e socialmente construído. Em sua teoria, a memória é vista como algo que é compartilhado e moldado pela interação entre os indivíduos e os grupos sociais em que estão inseridos. Dessa forma, a memória coletiva é uma construção social que reflete as experiências, valores e crenças de uma sociedade em particular. Halbwachs (1990) argumenta que a memória individual é inseparável da memória coletiva, pois a memória de um indivíduo é moldada e influenciada pelos contextos sociais e históricos em que vive. Ele argumenta que a memória individual é construída a partir das relações sociais e da participação dos indivíduos em grupos e instituições, que fornecem um quadro de referência para a compreensão e interpretação do passado. Em outras palavras, a memória individual é uma reelaboração pessoal de elementos da memória coletiva. Segundo o sociólogo, a memória coletiva é uma construção mantida e transmitida através de práticas sociais, instituições e discursos. Ele enfatiza que a memória coletiva não é algo fixo ou imutável, mas sim uma construção dinâmica que é constantemente negociada e redefinida pelos grupos sociais. Além disso, Halbwachs (1990) argumenta que a memória coletiva não é algo homogêneo ou unifica-
memória e gestão
do, mas sim composta por múltiplas vozes e perspectivas que refletem as diferenças de classe, gênero, raça e outras formas de identidade. Com base na teoria de Halbwachs (1990), é possível compreender a memória coletiva como um processo vivo e em constante transformação. A memória coletiva é moldada pelas relações sociais e históricas em que se insere, e é mantida e transmitida através de práticas sociais, instituições e discursos. Essa abordagem permite entender a memória como uma construção social que reflete as experiências, valores e crenças de uma sociedade em particular, e que é fundamental para a compreensão da história e da identidade coletiva.
A memória, enquanto processo cognitivo que permite o armazenamento, retenção e evocação de informações, não pode se desenvolver sem um contexto espacial. Isso significa que a memória está intrinsecamente ligada à experiência vivida no espaço e é influenciada pelas características desse espaço, tais como sua topografia, arquitetura, urbanização e dinâmica social. Por outro lado, a memória também é influenciada pelas memórias dos grupos sociais aos quais as pessoas pertencem. Nesse sentido, a memória, como um processo coletivo, é construída e compartilhada por meio da interação entre as pessoas e o ambiente físico em que vivem. Assim, as memórias individuais são moldadas pelas experiências coletivas e pela história compartilhada de um determinado lugar ou grupo social.
A relação mútua entre memória e espaço é particularmente evidente na cidade, que é um espaço físico que abriga uma multiplicidade de memórias individuais e coletivas. Como mencionado anteriormente, a cidade é composta de elementos físicos que ajudam as pessoas a navegar e a construir uma imagem mental da cidade. Esses elementos também podem evocar memórias de experiências passadas, tornando a cidade um lugar de memória coletiva. Em resumo, a relação entre memória e espaço é complexa e multifacetada, e tem importantes implicações para a compreensão da história e da identidade de um lugar ou grupo social. A memória é fundamental para a formação de uma identidade coletiva e é influenciada pelas características físicas e sociais do espaço em que ocorre.
O espaço físico pode ser um gatilho para evocação de memórias, influenciar o processo de memorização e ser usado como dispo-
sitivo mnemônico, por ser uma estrutura tangível e palpável, desencadeando lembranças e emoções em indivíduos que o experimentam. Para Milton Santos (1991), o espaço não é simplesmente um recipiente passivo onde os eventos ocorrem, mas sim um produto da ação humana, que é moldado por fatores sociais, culturais, políticos e econômicos. Ele acreditava que o espaço é criado por meio da interação entre as pessoas e os lugares, e que essa interação é influenciada pelo tempo. Ao falar sobre essa relação, Santos afirma que o espaço é acumulação desigual de tempos. Para o autor, o espaço físico permanece sempre vivo: “ele é formado por momentos passados que se foram estando agora cristalizados como objetos atuais, [...]. Por isso o momento passado está morto como tempo e não como espaço” (SANTOS, 1991, p. 10) Assim, Milton Santos está mostrando que o espaço físico é uma representação das relações sociais e históricas que ocorreram em um determinado momento. Ele está argumentando que o espaço físico não é apenas um cenário neutro ou um pano de fundo para as relações sociais e históricas, mas sim um elemento ativo e crucial nessas relações. Em resumo, o espaço físico é um reflexo da história e das relações sociais, e essas relações deixam vestígios no espaço físico atual. Ele argumentava que as mudanças no espaço não ocorrem de forma linear ou homogênea, mas sim em uma variedade de escalas e ritmos.
O espaço urbano é uma construção social e cultural que se desenvolve ao longo do tempo por meio das interações entre as pessoas e o meio físico. Nesse sentido, compreender o espaço urbano é fundamental para que possamos entender a dinâmica da vida nas cidades e contribuir para a sua transformação e melhoria. Para que essa compreensão ocorra, é necessário que haja uma leitura articulada do meio físico, ou seja, uma percepção que considere a complexidade e a diversidade dos elementos que compõem o espaço urbano. Essa leitura deve ser feita de forma integrada e articulada, a fim de se obter uma visão mais completa e profunda do espaço.
O livro “A Imagem da cidade” de Kevin Lynch (1997), referenciado como bibliografia fundamental para o entendimento do espaço urbano, foi utilizado a fim de nortear a interpretação de todos os elementos que compõem a cidade, cada um deles descrito de uma forma. O autor trata da inter-relação
de cinco elementos: vias, limites, bairros, cruzamentos e pontos marcantes. A mistura e sobreposição desses elementos acontecem a todo instante e constroem a nossa leitura do meio urbano, mas a legibilidade que nos permite identificá-los de forma clara e individual nos faz, como observadores, entender visualmente o meio em que estamos inseridos. Desse modo, a leitura que Lynch explicita é feita aos poucos, em pequenas escalas e relativa ao indivíduo, uma vez que cada um vivencia o espaço de uma maneira. Segundo Lynch (1997), a memória desempenha um papel fundamental na construção de nossa percepção do espaço e na forma como interagimos com ele. O autor argumentava que os lugares que possuem uma forte memória coletiva são mais significativos e importantes para as pessoas, porque eles são capazes de evocar emoções, histórias e significados compartilhados. Por exemplo, um prédio histórico que abrigou importantes eventos comunitários pode evocar uma forte sensação de pertencimento e identidade para as pessoas que viveram naquela região.
Lynch (1997) também destacou a importância da memória na construção de nossas imagens mentais do espaço. Ele argumentava que as pessoas constroem mapas mentais de suas cidades com base em suas experiências pessoais e memórias. Esses mapas mentais são compostos de elementos como marcos, pontos de referência e rotas que as pessoas associam a suas experiências e memórias de um determinado lugar. Por exemplo, uma pessoa pode se lembrar de uma rua como o local onde costumava encontrar amigos para sair, e essa rua se torna um ponto de referência em seu mapa mental da cidade. A importância da memória na relação com o espaço é evidente nas formas como as pessoas se apegam a determinados lugares e como resistem a mudanças que possam afetar esses lugares. Lynch (1997) argumentava que a identidade de um lugar é construída através de suas memórias e que a preservação dessas memórias é fundamental para a manutenção da identidade de uma comunidade.
Assim como acontece na produção de Lynch (1997), o autor de “Paisagem Urbana”, Gordon Cullen (1996), também apresenta conceitos que ajudam a construir o olhar que temos para com o espaço urbano. Estas concepções definem, ao atuarem na leitura do espaço, o que Cullen denomina de paisagem urbana, que nada mais é do que a forma organizada de visualizar o meio em que estamos inseridos, possibilitando análises mais coerentes e dinâmicas a partir das provocações feitas pelos conceitos que o autor nos propõe.
Parte desta análise é previamente feita em três momentos: o pri-
meiro deles é a análise óptica, que diz respeito da percepção do espaço de forma sequencial, a visão propriamente dita. O segundo momento é dado pela análise a partir do local em que o observador está, a sua localização de fato. E o último aspecto é o conteúdo, que é composto pelas características e formas da construção do meio, envolvendo as cores, tamanhos, estilos, texturas, setorização e demais atributos. Com estes aspectos definidos, Gordon Cullen (1996) apresenta métodos, conceitos mais minuciosos, derivados a partir de cada um desses três primeiros momentos, feitos para analisar de forma mais crítica e organizada, e estruturando toda a teoria por trás da análise óptica, local e de conteúdo. A partir destas análises, é possível chegar ao mesmo entendimento que ocorre na produção de Lynch (1997): onde, para que haja a compreensão do meio, é necessário que ocorra uma leitura articulada e com interação entre espaços-pessoas, atraindo o observador a participar da paisagem urbana com suas vivências e individualidade. Dessa forma, a compreensão do meio físico é uma atividade dinâmica e multifacetada, que requer a participação ativa do observador e uma leitura articulada e integrada do espaço. É necessário que a percepção do espaço urbano vá além do aspecto visual e incorpore também os aspectos sociais, culturais, históricos e afetivos que fazem parte da experiência urbana. O observador deve ser capaz de se relacionar com o espaço de maneira ativa e participativa, com suas vivências e individualidade. É importante que ele se sinta atraído a participar da paisagem urbana, a interagir com as pessoas e os elementos do espaço, a explorar e experimentar as diferentes possibilidades que a cidade oferece.
A fundação da cidade de São Bernardo do Campo está diretamente relacionada com a fundação da Vila de Santo André da Borda do Campo em 1553. Na época, a região era habitada por índios e por um povoado com relação direta com os padres jesuítas. João Ramalho, um dos bandeirantes, se estabeleceu na região, casou-se com uma índia chamada Bartira e formou uma família.
A Vila de Santo André da Borda do Campo começou a crescer aos poucos, com a chegada de novos habitantes e a construção de igrejas, escolas e casas. Durante o século XVI e XVII, a ocupação das vastas terras da região conhecida como Borda do Campo, passou a ser vinculada à Vila de São Paulo, onde era possível cortar caminho para Santos. Na época, a região era habitada por alguns lavradores e criadores de gado. A vila passou por diversas transformações, incluindo a mudança de nome para São Bernardo do Campo em homenagem a São Bernardo de Claraval, padroeiro da cidade. Na época, a economia da região era baseada na agricultura e na criação de gado, com destaque para o cultivo de cana-de-açúcar e a produção de açúcar. A cidade também se tornou um importante centro comercial, por estar localizada em uma rota de passagem para as minas de ouro de Minas Gerais. Além disso, a cidade também teve um importante papel na catequização dos índios, com a construção de diversas igrejas e a chegada de padres jesuítas, que se dedicavam à evangelização dos nativos. Durante o século XVII, a cidade continuou a crescer e se desenvolver, com a chegada de novos colonos, entre eles portugueses e negros escravizados. A economia da cidade se diversificou, com o cultivo de outros produtos agrícolas, como o algodão, o milho e o feijão, além da criação de gado para abastecer os mercados locais e regionais. Nessa época, também foram construídas importantes edificações religiosas, como a Igreja Matriz de São Bernardo, que se tornou um marco histórico e cultural da cidade.
A cidade de São Bernardo do Campo no século XVI e XVII, portanto, teve um papel importante na ocupação e colonização da região do planalto paulista, além de contribuir para a diversificação da economia brasileira. Sua história, marcada pela mistura de diferentes culturas e tradições, é um reflexo da diversidade e riqueza cultural do povo brasileiro.
Em 1637, Miguel Aires Maldonado realizou a doação de uma sesmaria aos monges beneditinos que abrangia áreas na região que
hoje conhecemos como São Bernardo do Campo. Na época, a região era habitada por alguns lavradores e criadores de gado dispersos, e estava vinculada à Vila de São Paulo e cortada pelo caminho de Santos. No entanto, a ocupação efetiva dessas terras pelos monges beneditinos só se deu no início do século XVIII, quando eles estabeleceram uma fazenda na área. A sede da fazenda ficava entre o Ribeirão dos Meninos e o antigo caminho de mar, próximo ao que hoje é a confluência das avenidas Vergueiro e Kennedy. Foi ali, em 1717, que o Abade Frei Bartolomeu da Conceição ordenou a construção de uma capela dedicada a São Bernardo. A fazenda dos monges beneditinos acabou emprestando o nome à região, que passou a ser conhecida como bairro de São Bernardo. Essa doação de sesmaria realizada por Miguel Aires Maldonado aos monges beneditinos teve um papel importante na história da cidade de São Bernardo do Campo. A presença dos monges e a construção da capela de São Bernardo acabaram por atrair outros habitantes para a região, contribuindo para o seu desenvolvimento. A partir da construção da capela, a região começou a ser frequentada por devotos e fiéis, impulsionando o crescimento da localidade. Além disso, a economia local seria impactada com a construção da calçada do Lorena (1789-1791), demonstrada na Figura 01, no trecho da serra do caminho do mar. Com a calçada, o transporte de mercadorias, principalmente o açúcar, por meio de muares até o litoral foi facilitado e São Bernardo, estrategicamente posicionada entre Santos e São Paulo, teria no tropeirismo um dos principais meios de vida dos seus habitantes durante boa parte do século XIX.

Durante o século XVIII, a região que hoje é São Bernardo do Campo teve um grande impulso econômico. A fazenda dos monges beneditinos, que inicialmente era uma simples propriedade rural, se tornou uma referência de produção de cana-de-açúcar, café e outros produtos agrícolas. A partir de então, muitas outras fazendas foram instaladas na região, transformando-a em um importante polo econômico da época. A história da Freguesia de São Bernardo do Campo está intimamente ligada aos monges beneditinos que se estabeleceram na região no início do século XVIII, após Abade Frei Bartolomeu da Conceição ordenar a construção de uma capela na fazenda dos monges, em 1717, localizada entre o Ribeirão dos Meninos e o antigo caminho de mar, próximo ao local onde hoje se encontra a confluência das avenidas Vergueiro e Kennedy. No início do século XIX, a capela da Nossa Senhora da Boa Viagem foi construída em um terreno próximo à fazenda dos monges, onde mantem-se até os dias atuais, como demonstrada na Figura 02. A capela foi erguida graças aos esforços do padre João Álvares, que se tornaria o primeiro pároco de São Bernardo. Em 1810, o padre João Álvares solicitou ao bispo de São Paulo a criação de uma freguesia na região, o que gerou um conflito com os monges beneditinos, que alegavam ter direitos sobre a área.
O conflito se arrastou por dois anos, até que em 23 de setembro de 1812, a Freguesia de São Bernardo foi oficialmente criada pelo bispo de São Paulo, através de um decreto assinado pelo Príncipe Regente D. João VI. A partir desse momento, a região começou a se desenvolver rapidamente, com a construção das cinco primeiras vias públicas da ci-
 Fonte: Autor desconhecido, década de 1950.
Fonte: Autor desconhecido, década de 1950.
dade: Rua Marechal Deodoro, Santa Filomena, Dr. Fláquer, Rio Branco e Padre Lustosa. A principal delas, a Rua Marechal Deodoro, foi aberta em 1820 e ligava a capela da Nossa Senhora da Boa Viagem à Vila de São Bernardo, que havia sido elevada à categoria de cidade em 1812. Na Figura 03, é possível ver a vista parcial da Igreja Matriz e da Capela Nossa Senhora da Boa Viagem, no centro do município em 1958.

Durante as décadas seguintes, a Freguesia de São Bernardo do Campo se consolidou como um importante polo econômico da região, graças ao tropeirismo, atividade que consistia no transporte de mercadorias por meio de muares entre São Paulo e Santos. A região, estrategicamente posicionada entre as duas cidades, se tornou um importante ponto de parada para os tropeiros, o que impulsionou o comércio e a economia local, e os primeiros traços de centro da cidade começaram a se consolidar.
A partir de 1850, ficou evidente às autoridades paulistas o entrave que o transporte por meio de muares representava à agricultura de exportação. A lentidão excessiva, os desperdícios em estradas que permaneciam ruins, mesmo com manutenção frequente, e a precariedade dos ranchos e pousos encareciam excessivamente os custos e tornavam inviável a expansão da lavoura para regiões muito distantes do porto de
Santos. Foi nesse contexto que a construção de linhas ferroviárias se tornou uma solução viável para o transporte da produção agrícola paulista. As linhas ferroviárias foram construídas num momento em que o café havia tomado a hegemonia do açúcar na pauta de exportações da província. Isso garantiu um enorme barateamento no transporte da produção agrícola paulista, tornando-a mais competitiva no mercado internacional. As linhas ferroviárias foram, sem sombra de dúvida, fatores essenciais para o vertiginoso desenvolvimento que São Paulo alcançou no final do século XIX. Com o estabelecimento das linhas férreas, foi inevitável a decadência do tropeirismo em São Bernardo do Campo e em todo o estado. E com ela, também ocorreu o abandono do caminho do mar, uma vez que, desde 1867, a função dele passou a ser cumprida de forma muito mais eficiente pela estrada de ferro Santos-Jundiaí, cujo trajeto passava pelas áreas das atuais cidades de Santo André e São Caetano.
A partir da segunda metade do século XIX, com o declínio do tropeirismo, a economia de São Bernardo do Campo passou a se diversificar. A região se tornou um importante polo industrial, com a instalação de fábricas têxteis, metalúrgicas e químicas, além de continuar sendo um importante centro agrícola. Com a queda na demanda pelo transporte de mercadorias por meio de mulas, muitos tropeiros foram obrigados a buscar outras formas de subsistência. Com a chegada de novos moradores e a abertura de novos negócios, a cidade continuou a crescer. Em 1850, a cidade contava com cerca de 2.500 habitantes, e continuaria a se desenvolver nas décadas seguintes. Entre os anos de 1877 e 1897, o território de São Bernardo do Campo recebeu um intenso fluxo migratório de estrangeiros, que vinham para ocupar núcleos coloniais recém-criados pelo governo imperial. Na Figura 04, temos demonstrado um mapa da distribuição dos Núcleos Coloniais para as décadas de 70 e 80. Os imigrantes eram incentivados a se estabelecerem na região para trabalharem na agricultura e desenvolverem o setor, visando o aumento da produção agrícola e a diversificação da economia.
Entre os imigrantes que vieram para a região estavam principalmente italianos e portugueses. Eles se instalaram em várias áreas rurais da cidade, formando comunidades próprias e trazendo consigo suas tradições e culturas. Alguns exemplos desses núcleos coloniais foram a Vila Euclides, a Vila Marlene, a Vila Santa Terezinha, entre outras. Essa imigração trouxe diversas mudanças para a região, des-

de a introdução de novas culturas agrícolas até a criação de novas vilas e povoados. Com a chegada dos imigrantes, também ocorreu uma maior ocupação do território, com a abertura de novas estradas e o desenvolvimento de novas atividades econômicas. Essas mudanças foram um dos fatores que impulsionaram a criação do município de São Bernardo do Campo, em 12 de março de 1889, com a lei n.38 sancionada pelo presidente da província. O município foi desmembrado de Santo André e passou a ter administração própria, o que permitiu uma maior autonomia e desenvolvimento local. A Figura 05 demonstra como era a região central da cidade, anterior à 1902.
No entanto, o município só pode ser considerado verdadeiramente instalado quando teve capacidade de eleger suas próprias autoridades e arrecadar seus próprios impostos, o que ocorreu somente em 2 de maio de 1890. A primeira legislatura da Câmara dos Vereadores de São Bernardo foi empossada em 29 de setembro de 1892. Com a criação do município, novos investimentos foram atraídos para a região, possibilitando a expansão da infraestrutura urbana, a melhoria das estradas e o desenvolvimento do comércio local. A cidade se tornou um importante polo produtor de café e outras culturas agrícolas, consolidando-se como um dos principais municípios do estado de São Paulo.

As primeiras décadas do século XX foram marcadas por um período de intensa industrialização em São Bernardo do Campo, que se tornou município em 1890 após se desmembrar de São Paulo. Nesse período, a região passou por uma série de transformações econômicas e sociais que foram determinantes para sua consolidação como um dos principais polos industriais do Brasil. O processo de industrialização de São Bernardo do Campo teve início ainda na década de 1910, quando a cidade começou a atrair um número crescente de indústrias, principalmente metalúrgicas. Entre as empresas que se instalaram na região nessa época, destacam-se a Villares, a Companhia Mecânica de São Paulo e a Matarazzo. A partir da década de 1920, a industrialização de São Bernardo do Campo ganhou ainda mais impulso, impulsionada pela demanda crescente por produtos manufaturados e pela chegada de um grande número de imigrantes europeus, principalmente italianos. Esses imigrantes foram fundamentais para o desenvolvimento da indústria local, trazendo consigo conhecimentos e habilidades técnicas que ajudaram a modernizar as fábricas e a aumentar sua produtividade. No entanto, a partir de 1927, a região de São Bernardo do Campo passou por uma nova transformação, com a construção da represa Billings. Essa obra, que represou as águas do rio Grande e do rio das Pedras, tinha como objetivo gerar energia elétrica para abastecer a usina Henri Borden, em Cubatão. A construção da represa teve um impacto significativo na região, especialmente na área que ficava ao redor do antigo leito dos rios, que foi inundada. Muitas famílias tiveram que deixar suas casas e se mudar para outras regiões, o que causou grande comoção na época. No entanto, a represa também trouxe benefícios para a região, garantindo um suprimento regular de energia elétrica que ajudou a impulsionar ainda mais o processo de industrialização. Os anos 30 foram marcados pela rivalidade política entre Santo André e São Bernardo. Nessa época, Santo André já era uma potência de maior vulto que a Vila de São Bernardo, contendo indústrias multinacionais de grande porte como a Rhodia e a Pirelli. Já na vila, as fábricas eram predominantemente empreendimentos de pequeno e médio porte, com base familiar, voltada para móveis. A rivalidade entre as duas cidades se acentuou com a ambição dos andreenses de transferir a sede municipal para o seu
território. Eles alegavam que Santo André era mais desenvolvida e, portanto, mais qualificada para liderar a região. A disputa se intensificou com o apoio de grupos políticos e empresariais de ambas as cidades, que buscavam vantagens econômicas e políticas em detrimento da outra cidade. Em São Bernardo do Campo, as fábricas de móveis continuaram a crescer, impulsionadas pelo aumento da população e pela melhoria das condições de vida. No entanto, as empresas, ainda pequenas, não conseguiam competir em igualdade com as grandes multinacionais instaladas em Santo André. Isso gerava um clima de insatisfação e frustração entre a população e as lideranças políticas de São Bernardo. No dia 30 de novembro de 1938, por meio de uma articulação política liderada por políticos de Santo André, o interventor estadual Ademar de Barros assinou um decreto que transferiu a sede do município de São Bernardo para a cidade vizinha, rebaixando a antiga Vila de São Bernardo a um mero distrito. A medida provocou grande descontentamento e indignação entre a população local, que se sentiu humilhada pela perda de seu status. Descontentes com a situação, um grupo que reunia empresários, comerciantes, profissionais liberais, funcionários públicos, operários e populares começou a se reunir para discutir a emancipação de São Bernardo. Sob a liderança de Wallace C. Simonsen, o grupo trabalhou arduamente para viabilizar a criação do novo município. Após intensa mobilização popular, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou a criação do município de São Bernardo do Campo em 1944, que foi governada por Wallace C. Simonsen até 1947. A partir daí, iniciou-se um novo ciclo de desenvolvimento para a cidade, que passou a ter autonomia política e administrativa.
A inauguração da Via Anchieta, em 1947, representou um marco importante para São Bernardo do Campo. A estrada pavimentada ligava a cidade de São Paulo à região do ABC paulista, e permitiu uma maior circulação de pessoas e mercadorias, favorecendo a chegada de empresas e indústrias à região. A partir de então, São Bernardo do Campo experimentou um acelerado crescimento econômico e demográfico, que transformou a pequena vila do início do século XX em uma grande metrópole.
O setor automobilístico foi o grande responsável pela transformação da cidade. Grandes montadoras, como a Ford, a Volkswagen e a Mer-
cedes-Benz, instalaram-se na região, atraídas pela proximidade com São Paulo e pela mão de obra qualificada. A produção em massa de veículos gerou uma enorme demanda por trabalhadores, o que incentivou a migração de pessoas de várias partes do país para São Bernardo do Campo. A chegada das indústrias automobilísticas impulsionou também o desenvolvimento de outros setores econômicos na cidade, como o comércio, a construção civil e a prestação de serviços. Durante o intenso processo de expansão populacional dessas décadas, a paisagem urbana da cidade foi radicalmente alterada, como demonstrado na vista aérea do centro da cidade na Figura 06. Antigas chácaras e sítios dos núcleos coloniais foram substituídos por novos loteamentos, regulares ou irregulares, dando origem a novos bairros e aglomerados urbanos. O crescimento populacional trouxe consigo uma série de desafios, como o aumento da demanda por moradias, transporte, educação e saúde. Para atender às necessidades da população, foram construídos novos bairros, escolas, hospitais e centros de comércio
No censo do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, realizado em 1980, São Bernardo do Campo contava com 425 mil habitantes, dos quais 292 mil eram migrantes de outras regiões do país. O rápido crescimento da cidade trouxe consigo desafios e problemas, como o aumento da violência, a degradação ambiental e a precariedade dos serviços públicos em algumas áreas. No entanto, a cidade soube se reinventar ao longo do tempo, e hoje é reconhecida como uma das mais importantes do

país, com um parque industrial diversificado e uma economia dinâmica. Nesse contexto de crescimento econômico e industrial, desenvolveu-se em São Bernardo um sindicalismo fortemente organizado e com grande poder reivindicatório. Os sindicatos de trabalhadores da indústria automobilística, em especial, se destacaram por suas lutas e conquistas em defesa dos direitos trabalhistas e salariais. O movimento sindical de São Bernardo teve grande influência na cena política nacional, sendo liderado por figuras emblemáticas como Luiz Inácio Lula da Silva, que iniciou sua carreira como líder sindical na cidade. Durante as crises econômicas do final dos anos 70 e início dos 80, São Bernardo se tornou palco de alguns dos mais incisivos movimentos grevistas da história do país. Esses movimentos tiveram grande repercussão nacional e internacional, reforçando a imagem da cidade como um importante centro de luta pelos direitos dos trabalhadores. Na década de 90, São Bernardo do Campo enfrentou os desafios trazidos pelas grandes transformações econômicas ocorridas em escala global. A abertura comercial e a intensificação da competição internacional impulsionaram mudanças significativas no mercado de trabalho e na organização da produção, que já se delineavam nas décadas anteriores.
Em São Bernardo, o setor industrial, que havia sido o principal motor do desenvolvimento econômico e social da cidade, perdeu parte de sua importância. As gigantes montadoras enfrentavam a concorrência de empresas estrangeiras mais competitivas, o que levou a um processo de desindustrialização. Por outro lado, o setor de serviços ganhou importância na economia da cidade. Com o aumento da renda e da qualificação da mão de obra, surgiram novas oportunidades de negócios em áreas como comércio, educação, saúde, turismo e tecnologia da informação. Além disso, o crescimento da economia informal também se tornou uma realidade na cidade. Nessa época, a cidade enfrentou dificuldades como o aumento do desemprego, a queda da arrecadação e a redução dos investimentos públicos. Esses fatores contribuíram para a deterioração das condições de vida de muitos moradores, especialmente aqueles que dependiam da indústria para sobreviver.
Apesar dos desafios, a cidade procurou se reinventar e buscar novas alternativas para enfrentar os impactos da globalização e das mudanças estruturais no mercado de trabalho. A administração pública buscou incentivar a diversificação da economia, atrair novos investimentos e fomentar o empreendedorismo e a inovação.
Nos dias atuais, a cidade se mantém em constante evolução, enfrentando desafios típicos de uma grande metrópole. Com seus 844 mil habitantes, marcados pelo IBGE em 2020, a cidade tem uma grande importância econômica para a região, ainda com o uso de indústrias automobilísticas e metalúrgicas, mas com foco no setor de serviços. O Produto Interno Bruto, PIB, do município é de R$ 57,5 mil, marcado também pelo IBGE em 2020. Na Figura 07, temos delineado a atual conformação do município dentro da região metropolitana de São Paulo.

Fonte: Extraído de CONSÓRCIO TTC / PCK / ADVOCACIA LUIZ FELIPE. PlanMob / SBC - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável do Município de São Bernardo do Campo, RT 09 Diagnóstico e Prognóstico. São Bernardo do Campo, 2020. Pg. 9.
A urbanização intensa aconteceu majoritariamente na parte norte do município, como demonstrado na Figura 08. E ela trouxe consigo, além diversos desafios para a cidade, principalmente no que se
refere à mobilidade urbana e à ocupação do espaço público. O aumento da frota de veículos e o crescimento do número de moradores em regiões periféricas têm sobrecarregado as vias da cidade, gerando congestionamentos e problemas na circulação de pessoas e bens.

Além disso, a cidade tem enfrentado desafios em relação à segurança pública, com altos índices de criminalidade em algumas regiões. A poluição também é um problema sério, principalmente em função da grande quantidade de indústrias instaladas na cidade. A falta de áreas verdes e de espaços de lazer também é um aspecto que tem sido alvo de críticas por parte da população. No entanto, a cidade tem buscado soluções para superar esses desafios, com políticas públicas voltadas para a melhoria da qualidade de vida dos moradores. A implementação de corredores de ônibus, a criação de ciclovias e a melhoria da infraestrutura de transporte têm sido algumas das medidas tomadas para melhorar a mobilidade urbana. Outra questão importante é o desenvolvimento de projetos de habitação social, visando a redução do déficit habitacional na cidade. Além disso, a criação de parques e áreas verdes tem sido uma prioridade, buscando oferecer espaços de convivência e lazer para a população. Em resumo, São Bernardo do Campo é uma cidade que enfrenta desafios típicos de grandes metrópoles, mas que tem buscado soluções para garantir o bem-estar de seus habitantes. Com uma economia diversificada, a cidade se mantém como uma importante referência para a região e um local de grande interesse para investimentos e oportunidades de trabalho.
Ao entendermos sobre a relevância da cidade de São Bernardo do Campo a partir de sua história, definimos o bairro Centro como objeto de análise qualificado para a escala de trabalho, como demonstrado na Figura 09, nos baseando nos princípios da Acupuntura Urbana, idealizada pelo arquiteto Jaime Lerner (2003). A ideia central de Lerner (2003) é realizar intervenções pontuais no espaço para gerar impactos significativos na qualidade de vida e na funcionalidade da vida urbana.
Assim, a partir da escolha da área de intervenção dentro da cidade de São Bernardo do Campo, as análises e caminhos para as diretrizes urbanas serão focadas dentro dos limites do bairro central, uma vez que a área representa o núcleo histórico e cultural da cidade, mas que enfrenta desafios relacionados principalmente à degradação urbana, falta de infraestrutura adequada, problemas de mobilidade e degradação ambiental.
Ao utilizar o conceito Lerner (2003), as diretrizes para o bairro central são elaboradas com base em uma análise cuidadosa das necessidades e potenciais da região, levando em consideração a partici-

pação popular. Isso envolve identificar os pontos críticos e estratégicos onde pequenas intervenções podem gerar grandes transformações.
Dessa forma, a pesquisa qualitativa é um método que se destaca por sua abordagem interpretativa e pelo enfoque na compreensão aprofundada dos fenômenos sociais. Ao explorar os aspectos subjetivos, culturais e históricos da memória do centro de São Bernardo do Campo, a pesquisa qualitativa permite capturar a diversidade de perspectivas e experiências dos usuários. Os usuários são protagonistas na construção da memória de um lugar. Suas histórias individuais, memórias afetivas e relatos pessoais constituem um acervo valioso para a compreensão coletiva do passado. Por meio de entrevistas e registros de depoimentos, a pesquisa qualitativa proporciona que os usuários expressem suas vivências e revelem as diferentes camadas de significado associadas ao centro de São Bernardo do Campo.
Ao dar voz aos usuários, a pesquisa qualitativa contribui para a construção de uma história inclusiva e plural. Os diferentes grupos sociais, como moradores antigos, comerciantes e imigrantes, possuem perspectivas únicas sobre o centro da cidade, enriquecendo a compreensão da memória coletiva. Além disso, a pesquisa qualitativa permite que saberes populares, tradições e práticas culturais sejam valorizados e incorporados na narrativa histórica.
Embora a pesquisa qualitativa seja um método valioso, é importante reconhecer que existem desafios, como a subjetividade dos relatos e a necessidade de considerar diferentes pontos de vista. No entanto, é por meio desses desafios que a pesquisa revela sua potencialidade de desconstruir narrativas dominantes e promover um diálogo mais inclusivo e representativo sobre a memória do centro.
A partir da definição da área de estudo e do tipo de pesquisa que seria aplicada, utilizamos da liberdade de selecionar os entrevistados de acordo com os objetivos do trabalho, procurando aqueles que possuem conhecimentos relevantes para o estudo, mas que também representem diferentes perspectivas e experiências, enriquecendo a compreensão da temática em análise. Como escolha de aplicação da pesquisa de caráter qualitativo, realizamos entrevistas através de questionário online, feito pela plataforma do Google, que foi disponibilizadas à moradores e frequentadores do município de São Bernardo do Campo durante o período de 14 de março de 2023 à 21 de março de 2023. Nesse
período, reunimos os depoimentos de um total de amostra de 70 pessoas. O questionário foi elaborado com o total de 13 questões, divididas em duas partes: a primeira parte, com 4 perguntas, focou em conhecer o grupo de pessoas que respondia o formulário. Assim, a sequência inicial de questões baseou-se em responder: nome/e-mail, gênero, faixa etária e atividade exercida. As respostas obtidas no campo de “nome/e-mail” serão propositalmente mantidas fora da análise para proteger a privacidade dos entrevistados, uma vez que só foram colhidas por motivos de controle da pesquisa. Como resultado dessa primeira seleção de perguntas, temos, a partir da Figura 10, que 60% das pessoas entrevistadas se identificam como mulheres.
Também pudemos identificar que o grupo constituiu-se de uma variedade de faixas etárias, como demonstra a Figura 11, reunindo diferentes perspectivas e vivências a partir da seleção de várias pessoas. Entretanto, temos como maioria um grupo mais ve-

lho, acima dos 45 anos, correspondendo à 68,6% do grupo.Como resultado dessa primeira seleção de perguntas, temos, a partir da Figura 10, que 60% das pessoas entrevistadas se identificam como mulheres.
Da mesma forma, também obtivemos uma variedade de respostas que diz respeito ao tipo de atividade exercida pelos entrevistados. Essa questão nos faz entender melhor o público que envolveu-se com o questionário e ao regime que o trabalho dele se qualifica. Como resposta, demonstrado na Figura 12, temos 38,6% das pessoas submetidas ao regime CLT de trabalho. Entretanto, somando o grupo de estágio, trabalho autônomo, trabalho informal e profissionais liberais, temos a maioria de 41,4% não pertencendo ao regime CLT. Já os 20% restante não trabalha de nenhuma forma.
