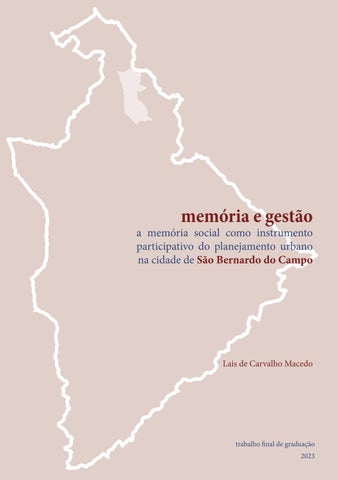7 minute read
lugar de memória
2.1 a memória coletiva
A memória coletiva é uma construção social que se desenvolve ao longo do tempo e é transmitida de geração em geração, sendo moldada pelas relações sociais, instituições e práticas culturais. Ela é uma construção dinâmica, em constante transformação e atualização, conectando as três dimensões temporais: ao ser evocada no presente, remete ao passado, mas sempre tendo em vista o futuro, e por isso é considerada uma memória viva. Isso se dá pelo fato de que a memória coletiva não é uma lembrança estática e fixa do passado, mas sim algo que está sempre em evolução, influenciado pelas experiências e mudanças sociais que ocorrem ao longo do tempo. A memória coletiva é moldada pelas interações sociais e pelas narrativas que são construídas em torno dos eventos e experiências compartilhadas. Assim, a memória coletiva é uma memória viva porque está sempre sendo recriada e atualizada pelos indivíduos e grupos que a compartilham. Ela é um reflexo da identidade cultural de uma comunidade ou sociedade e desempenha um papel fundamental na formação da consciência coletiva e na construção da história e da tradição.
Advertisement
O sociólogo francês Maurice Halbwachs (1990) propôs uma abordagem da memória como um processo coletivo e socialmente construído. Em sua teoria, a memória é vista como algo que é compartilhado e moldado pela interação entre os indivíduos e os grupos sociais em que estão inseridos. Dessa forma, a memória coletiva é uma construção social que reflete as experiências, valores e crenças de uma sociedade em particular. Halbwachs (1990) argumenta que a memória individual é inseparável da memória coletiva, pois a memória de um indivíduo é moldada e influenciada pelos contextos sociais e históricos em que vive. Ele argumenta que a memória individual é construída a partir das relações sociais e da participação dos indivíduos em grupos e instituições, que fornecem um quadro de referência para a compreensão e interpretação do passado. Em outras palavras, a memória individual é uma reelaboração pessoal de elementos da memória coletiva. Segundo o sociólogo, a memória coletiva é uma construção mantida e transmitida através de práticas sociais, instituições e discursos. Ele enfatiza que a memória coletiva não é algo fixo ou imutável, mas sim uma construção dinâmica que é constantemente negociada e redefinida pelos grupos sociais. Além disso, Halbwachs (1990) argumenta que a memória coletiva não é algo homogêneo ou unifica- memória e gestão do, mas sim composta por múltiplas vozes e perspectivas que refletem as diferenças de classe, gênero, raça e outras formas de identidade. Com base na teoria de Halbwachs (1990), é possível compreender a memória coletiva como um processo vivo e em constante transformação. A memória coletiva é moldada pelas relações sociais e históricas em que se insere, e é mantida e transmitida através de práticas sociais, instituições e discursos. Essa abordagem permite entender a memória como uma construção social que reflete as experiências, valores e crenças de uma sociedade em particular, e que é fundamental para a compreensão da história e da identidade coletiva.
2.2 memória e espaço
A memória, enquanto processo cognitivo que permite o armazenamento, retenção e evocação de informações, não pode se desenvolver sem um contexto espacial. Isso significa que a memória está intrinsecamente ligada à experiência vivida no espaço e é influenciada pelas características desse espaço, tais como sua topografia, arquitetura, urbanização e dinâmica social. Por outro lado, a memória também é influenciada pelas memórias dos grupos sociais aos quais as pessoas pertencem. Nesse sentido, a memória, como um processo coletivo, é construída e compartilhada por meio da interação entre as pessoas e o ambiente físico em que vivem. Assim, as memórias individuais são moldadas pelas experiências coletivas e pela história compartilhada de um determinado lugar ou grupo social.
A relação mútua entre memória e espaço é particularmente evidente na cidade, que é um espaço físico que abriga uma multiplicidade de memórias individuais e coletivas. Como mencionado anteriormente, a cidade é composta de elementos físicos que ajudam as pessoas a navegar e a construir uma imagem mental da cidade. Esses elementos também podem evocar memórias de experiências passadas, tornando a cidade um lugar de memória coletiva. Em resumo, a relação entre memória e espaço é complexa e multifacetada, e tem importantes implicações para a compreensão da história e da identidade de um lugar ou grupo social. A memória é fundamental para a formação de uma identidade coletiva e é influenciada pelas características físicas e sociais do espaço em que ocorre.
O espaço físico pode ser um gatilho para evocação de memórias, influenciar o processo de memorização e ser usado como dispo- sitivo mnemônico, por ser uma estrutura tangível e palpável, desencadeando lembranças e emoções em indivíduos que o experimentam. Para Milton Santos (1991), o espaço não é simplesmente um recipiente passivo onde os eventos ocorrem, mas sim um produto da ação humana, que é moldado por fatores sociais, culturais, políticos e econômicos. Ele acreditava que o espaço é criado por meio da interação entre as pessoas e os lugares, e que essa interação é influenciada pelo tempo. Ao falar sobre essa relação, Santos afirma que o espaço é acumulação desigual de tempos. Para o autor, o espaço físico permanece sempre vivo: “ele é formado por momentos passados que se foram estando agora cristalizados como objetos atuais, [...]. Por isso o momento passado está morto como tempo e não como espaço” (SANTOS, 1991, p. 10) Assim, Milton Santos está mostrando que o espaço físico é uma representação das relações sociais e históricas que ocorreram em um determinado momento. Ele está argumentando que o espaço físico não é apenas um cenário neutro ou um pano de fundo para as relações sociais e históricas, mas sim um elemento ativo e crucial nessas relações. Em resumo, o espaço físico é um reflexo da história e das relações sociais, e essas relações deixam vestígios no espaço físico atual. Ele argumentava que as mudanças no espaço não ocorrem de forma linear ou homogênea, mas sim em uma variedade de escalas e ritmos.
2.3 o processo de construção da imagem da cidade
O espaço urbano é uma construção social e cultural que se desenvolve ao longo do tempo por meio das interações entre as pessoas e o meio físico. Nesse sentido, compreender o espaço urbano é fundamental para que possamos entender a dinâmica da vida nas cidades e contribuir para a sua transformação e melhoria. Para que essa compreensão ocorra, é necessário que haja uma leitura articulada do meio físico, ou seja, uma percepção que considere a complexidade e a diversidade dos elementos que compõem o espaço urbano. Essa leitura deve ser feita de forma integrada e articulada, a fim de se obter uma visão mais completa e profunda do espaço.
O livro “A Imagem da cidade” de Kevin Lynch (1997), referenciado como bibliografia fundamental para o entendimento do espaço urbano, foi utilizado a fim de nortear a interpretação de todos os elementos que compõem a cidade, cada um deles descrito de uma forma. O autor trata da inter-relação de cinco elementos: vias, limites, bairros, cruzamentos e pontos marcantes. A mistura e sobreposição desses elementos acontecem a todo instante e constroem a nossa leitura do meio urbano, mas a legibilidade que nos permite identificá-los de forma clara e individual nos faz, como observadores, entender visualmente o meio em que estamos inseridos. Desse modo, a leitura que Lynch explicita é feita aos poucos, em pequenas escalas e relativa ao indivíduo, uma vez que cada um vivencia o espaço de uma maneira. Segundo Lynch (1997), a memória desempenha um papel fundamental na construção de nossa percepção do espaço e na forma como interagimos com ele. O autor argumentava que os lugares que possuem uma forte memória coletiva são mais significativos e importantes para as pessoas, porque eles são capazes de evocar emoções, histórias e significados compartilhados. Por exemplo, um prédio histórico que abrigou importantes eventos comunitários pode evocar uma forte sensação de pertencimento e identidade para as pessoas que viveram naquela região.
Lynch (1997) também destacou a importância da memória na construção de nossas imagens mentais do espaço. Ele argumentava que as pessoas constroem mapas mentais de suas cidades com base em suas experiências pessoais e memórias. Esses mapas mentais são compostos de elementos como marcos, pontos de referência e rotas que as pessoas associam a suas experiências e memórias de um determinado lugar. Por exemplo, uma pessoa pode se lembrar de uma rua como o local onde costumava encontrar amigos para sair, e essa rua se torna um ponto de referência em seu mapa mental da cidade. A importância da memória na relação com o espaço é evidente nas formas como as pessoas se apegam a determinados lugares e como resistem a mudanças que possam afetar esses lugares. Lynch (1997) argumentava que a identidade de um lugar é construída através de suas memórias e que a preservação dessas memórias é fundamental para a manutenção da identidade de uma comunidade.
Assim como acontece na produção de Lynch (1997), o autor de “Paisagem Urbana”, Gordon Cullen (1996), também apresenta conceitos que ajudam a construir o olhar que temos para com o espaço urbano. Estas concepções definem, ao atuarem na leitura do espaço, o que Cullen denomina de paisagem urbana, que nada mais é do que a forma organizada de visualizar o meio em que estamos inseridos, possibilitando análises mais coerentes e dinâmicas a partir das provocações feitas pelos conceitos que o autor nos propõe.
Parte desta análise é previamente feita em três momentos: o pri- meiro deles é a análise óptica, que diz respeito da percepção do espaço de forma sequencial, a visão propriamente dita. O segundo momento é dado pela análise a partir do local em que o observador está, a sua localização de fato. E o último aspecto é o conteúdo, que é composto pelas características e formas da construção do meio, envolvendo as cores, tamanhos, estilos, texturas, setorização e demais atributos. Com estes aspectos definidos, Gordon Cullen (1996) apresenta métodos, conceitos mais minuciosos, derivados a partir de cada um desses três primeiros momentos, feitos para analisar de forma mais crítica e organizada, e estruturando toda a teoria por trás da análise óptica, local e de conteúdo. A partir destas análises, é possível chegar ao mesmo entendimento que ocorre na produção de Lynch (1997): onde, para que haja a compreensão do meio, é necessário que ocorra uma leitura articulada e com interação entre espaços-pessoas, atraindo o observador a participar da paisagem urbana com suas vivências e individualidade. Dessa forma, a compreensão do meio físico é uma atividade dinâmica e multifacetada, que requer a participação ativa do observador e uma leitura articulada e integrada do espaço. É necessário que a percepção do espaço urbano vá além do aspecto visual e incorpore também os aspectos sociais, culturais, históricos e afetivos que fazem parte da experiência urbana. O observador deve ser capaz de se relacionar com o espaço de maneira ativa e participativa, com suas vivências e individualidade. É importante que ele se sinta atraído a participar da paisagem urbana, a interagir com as pessoas e os elementos do espaço, a explorar e experimentar as diferentes possibilidades que a cidade oferece.