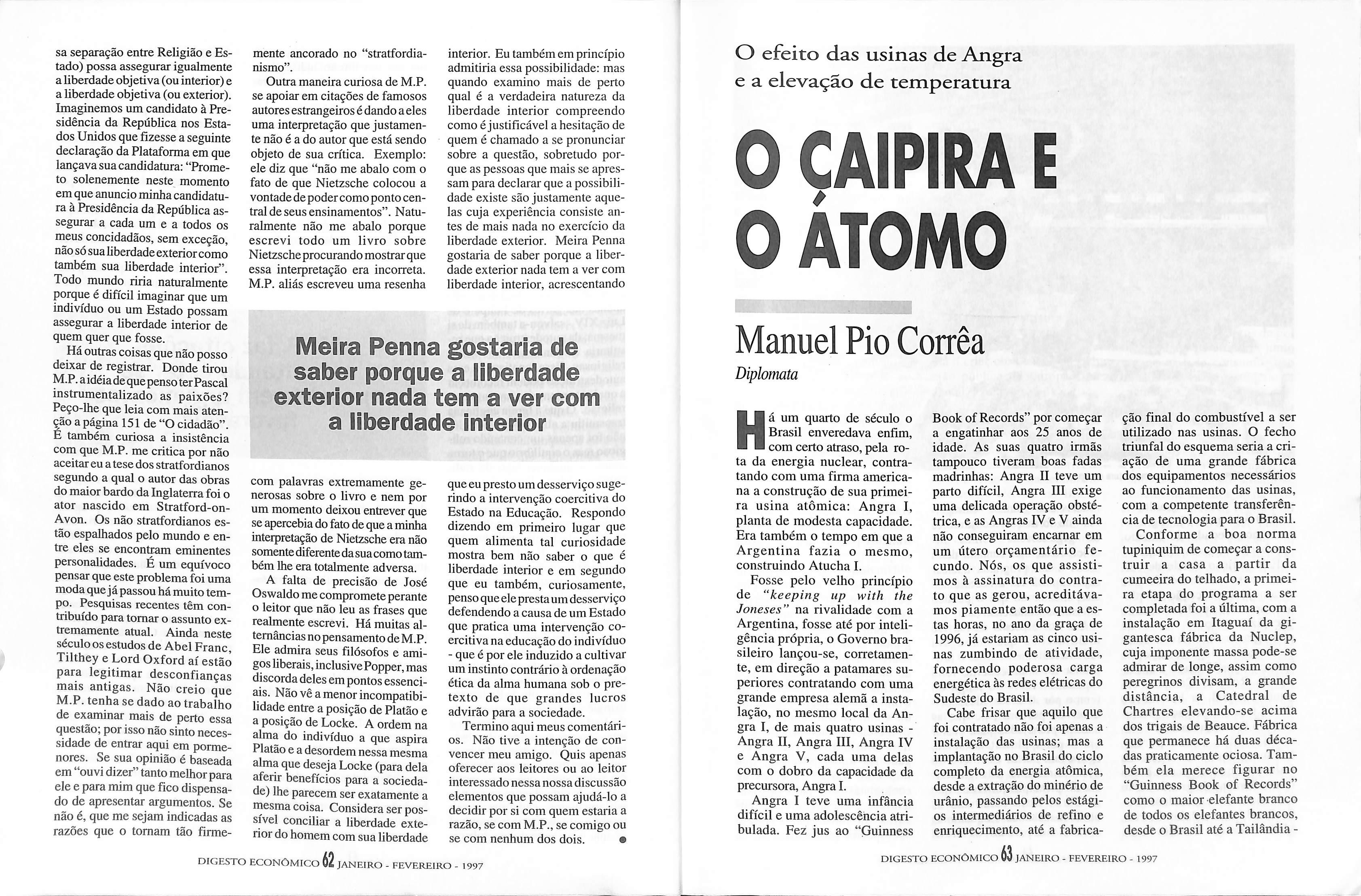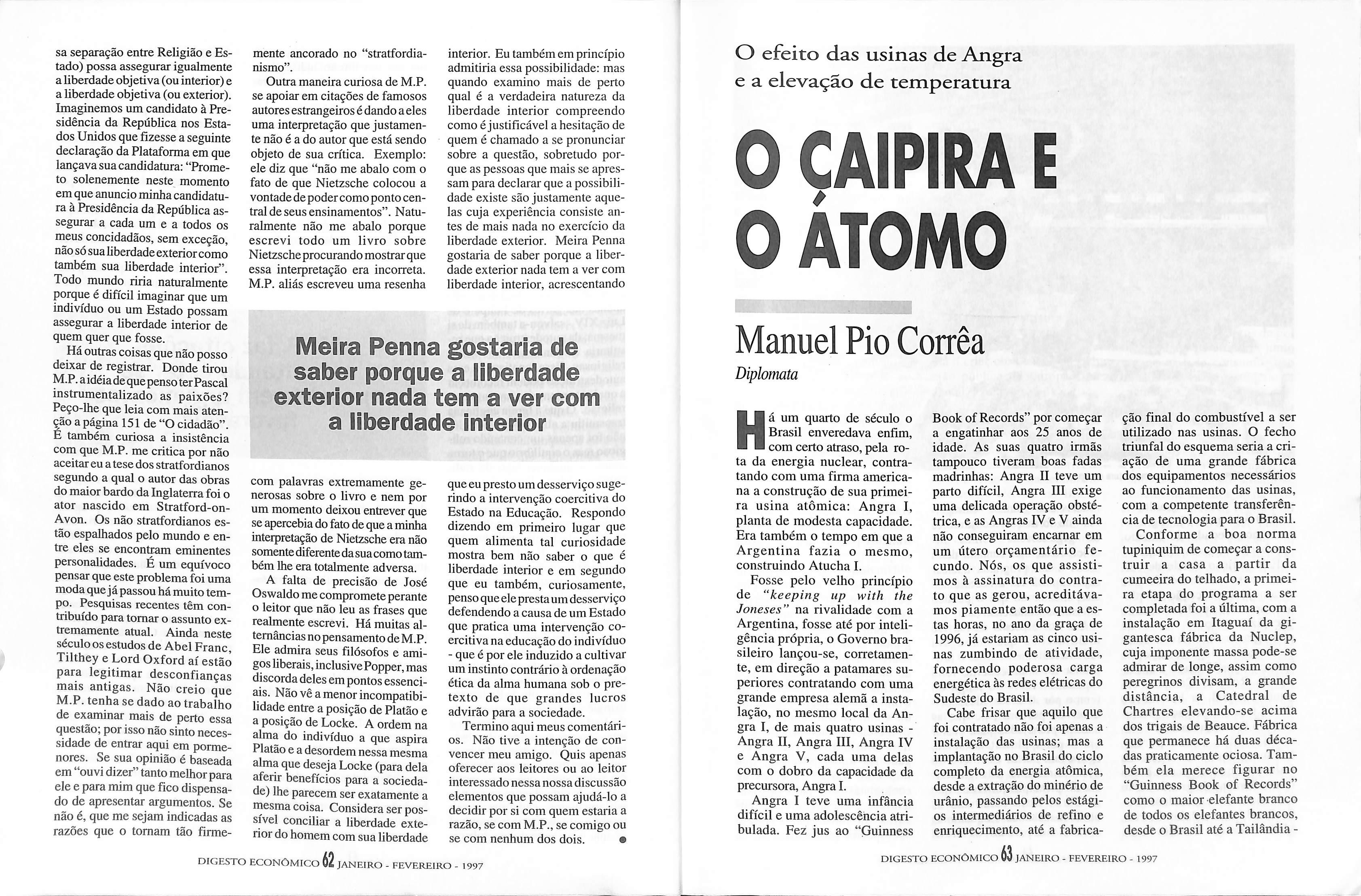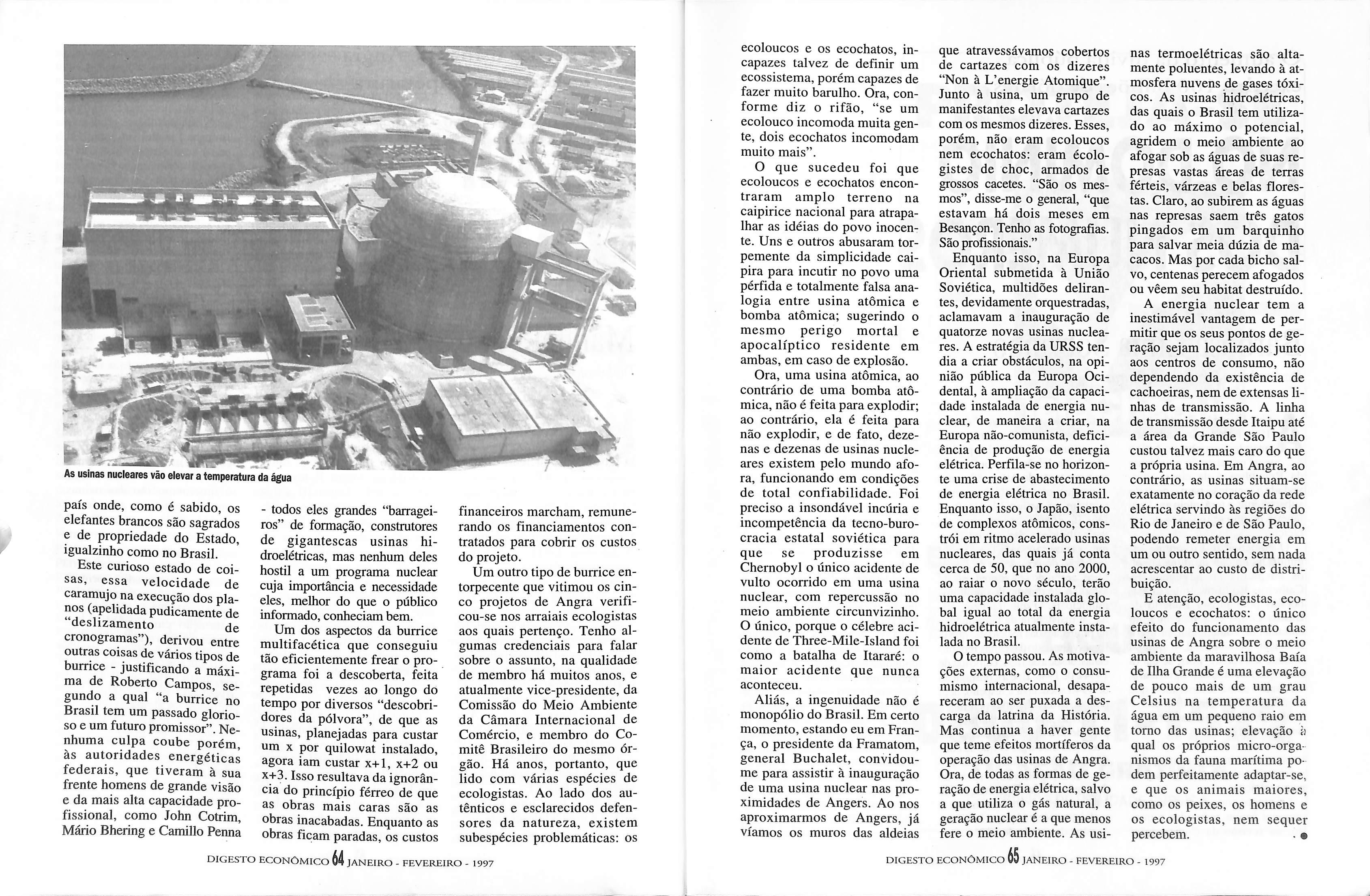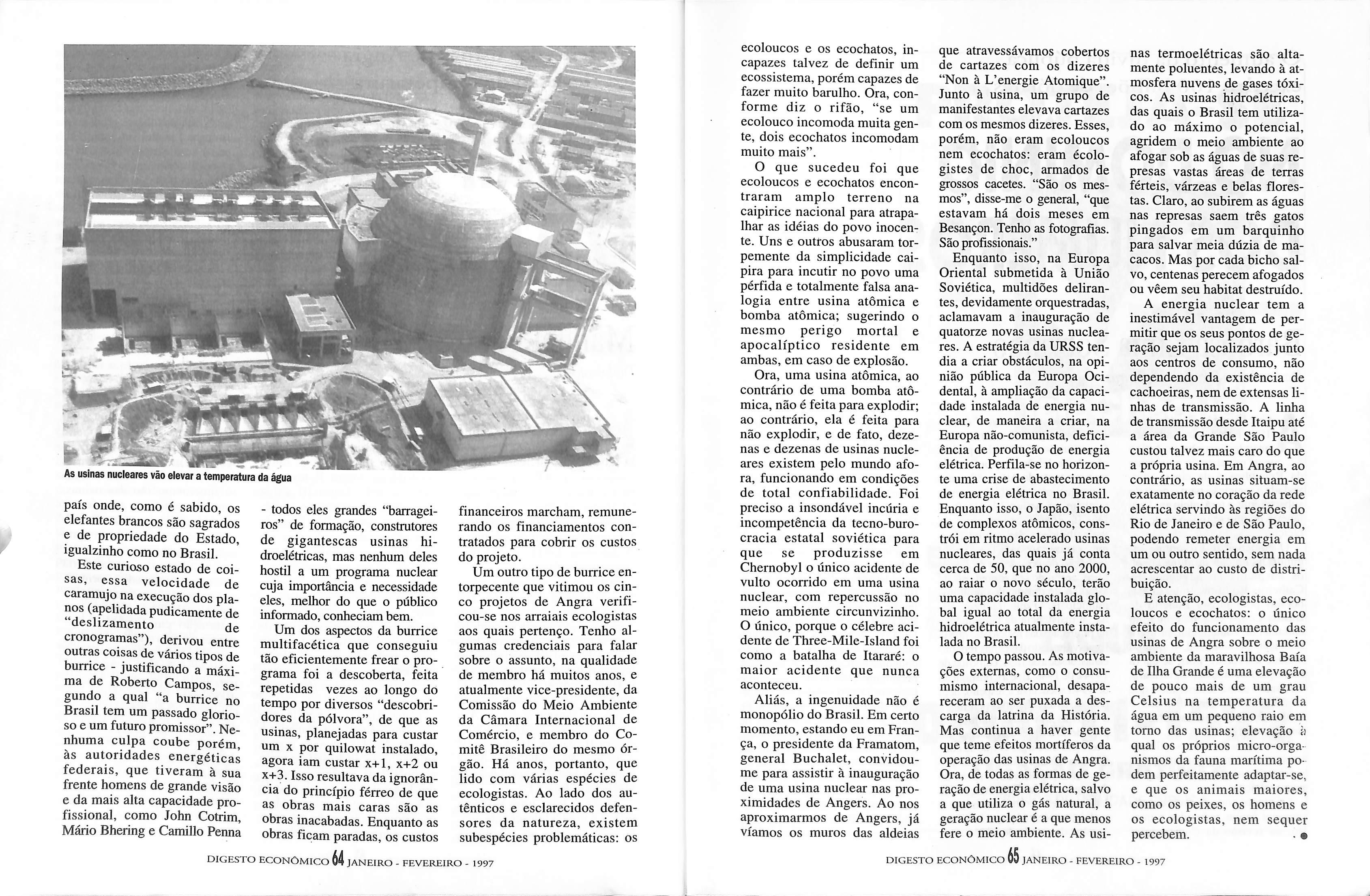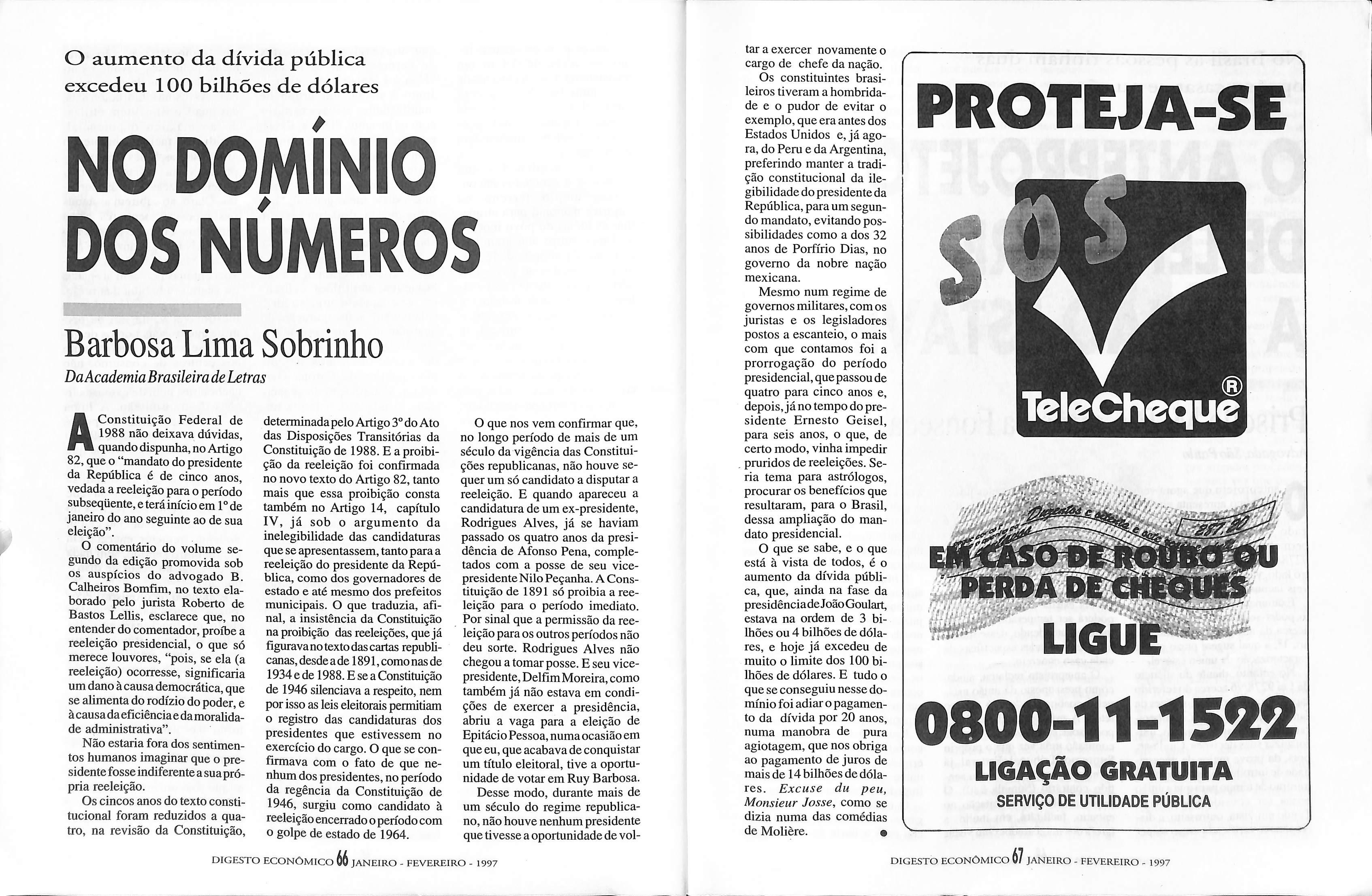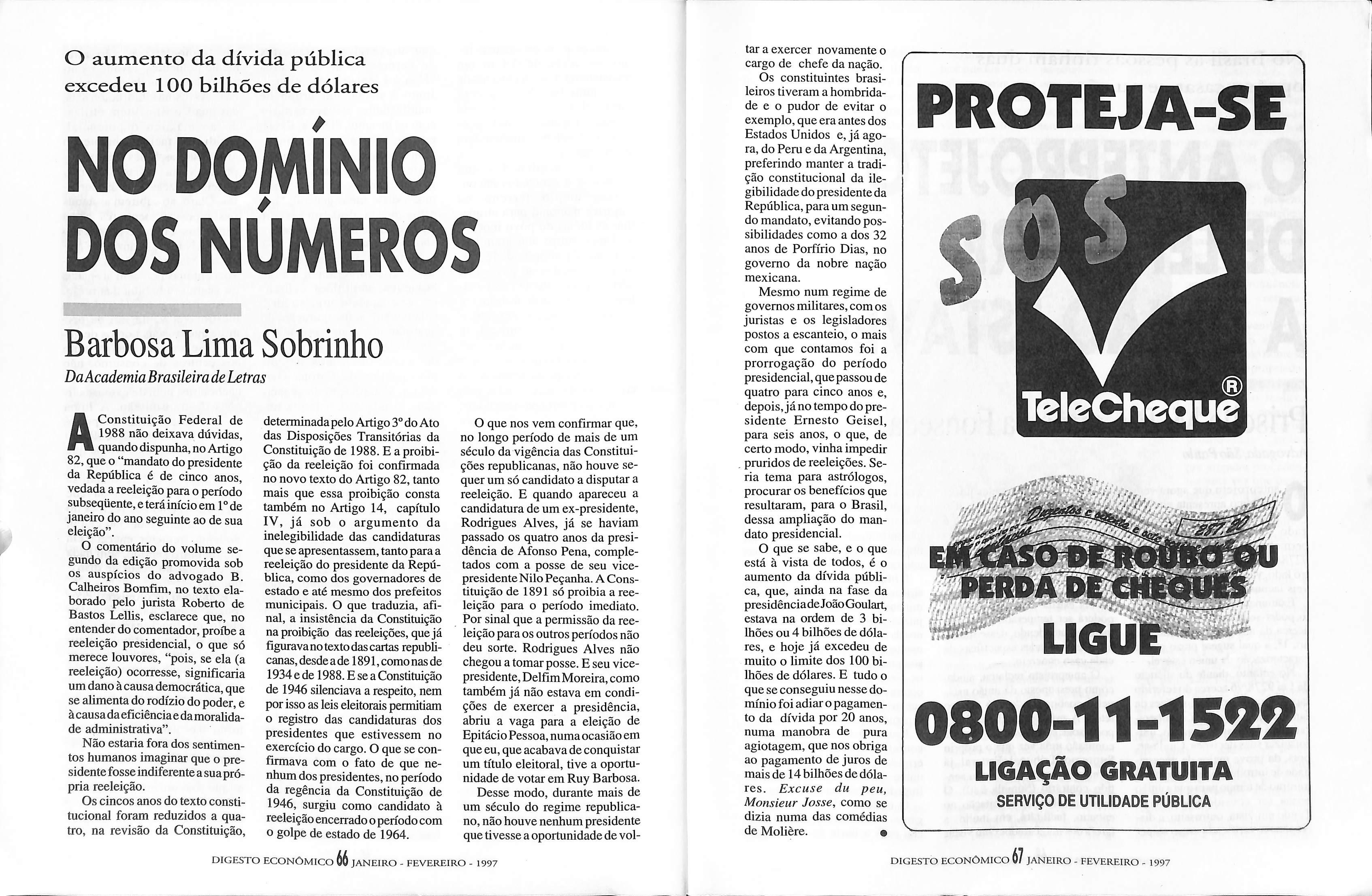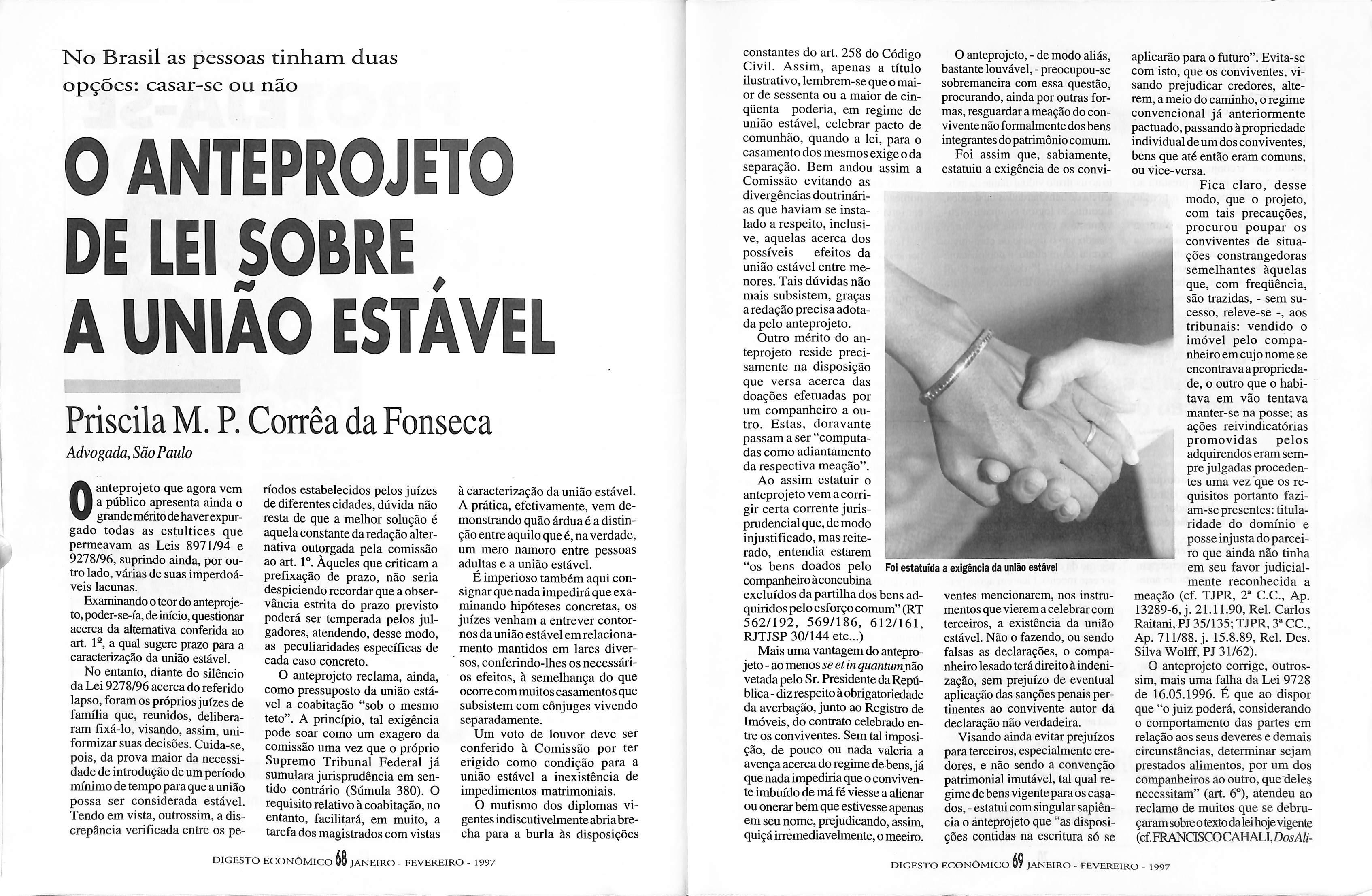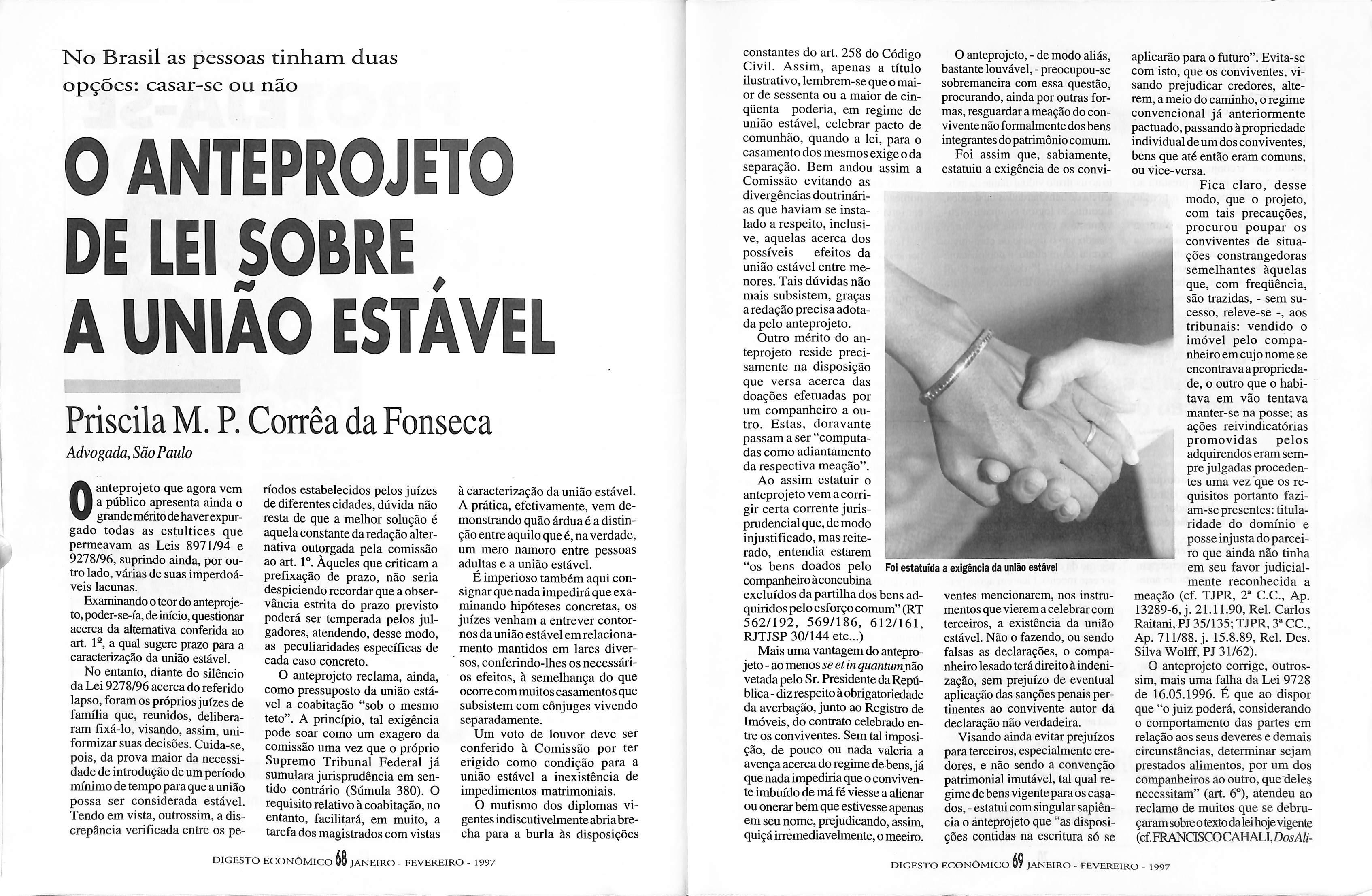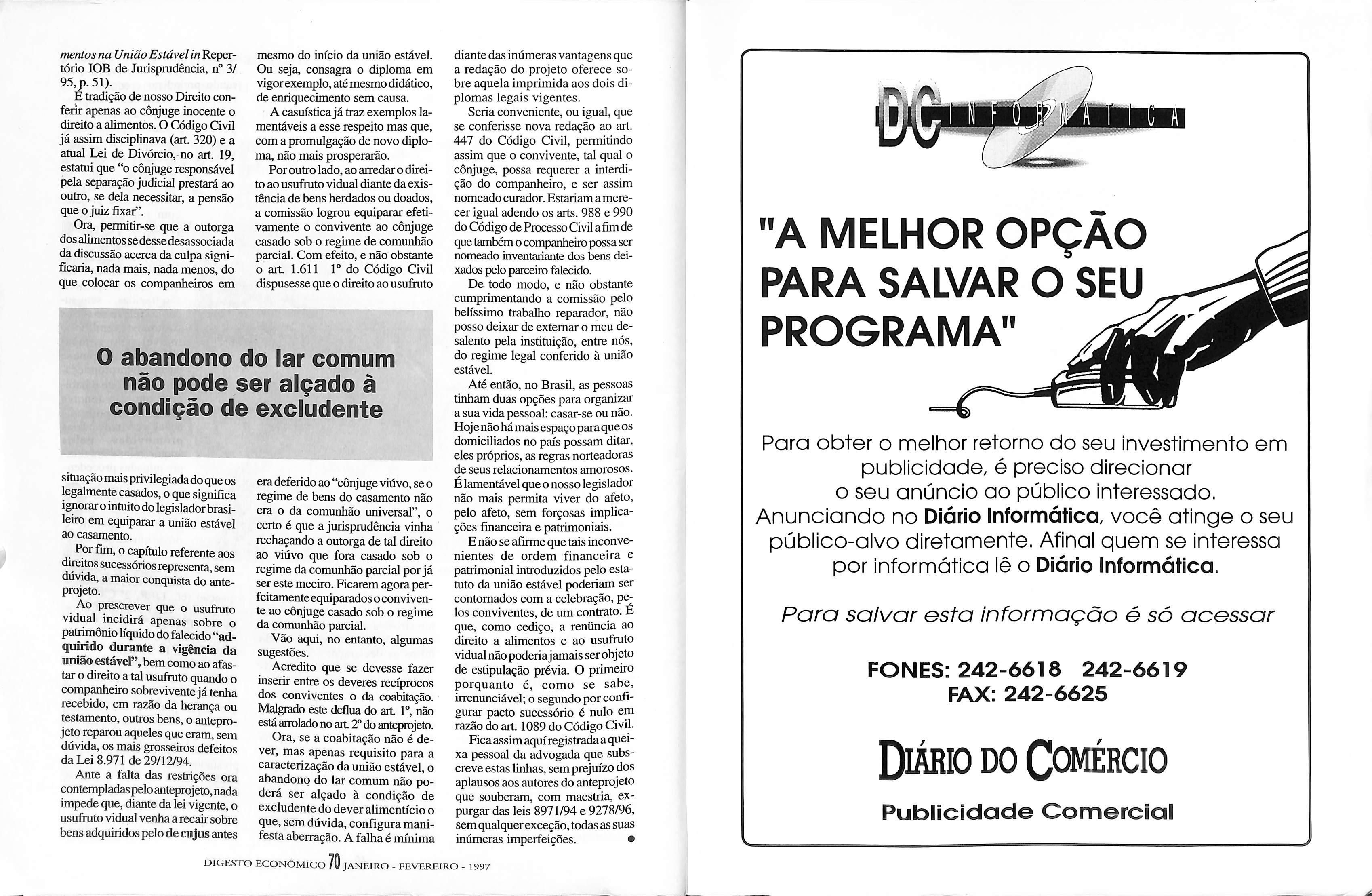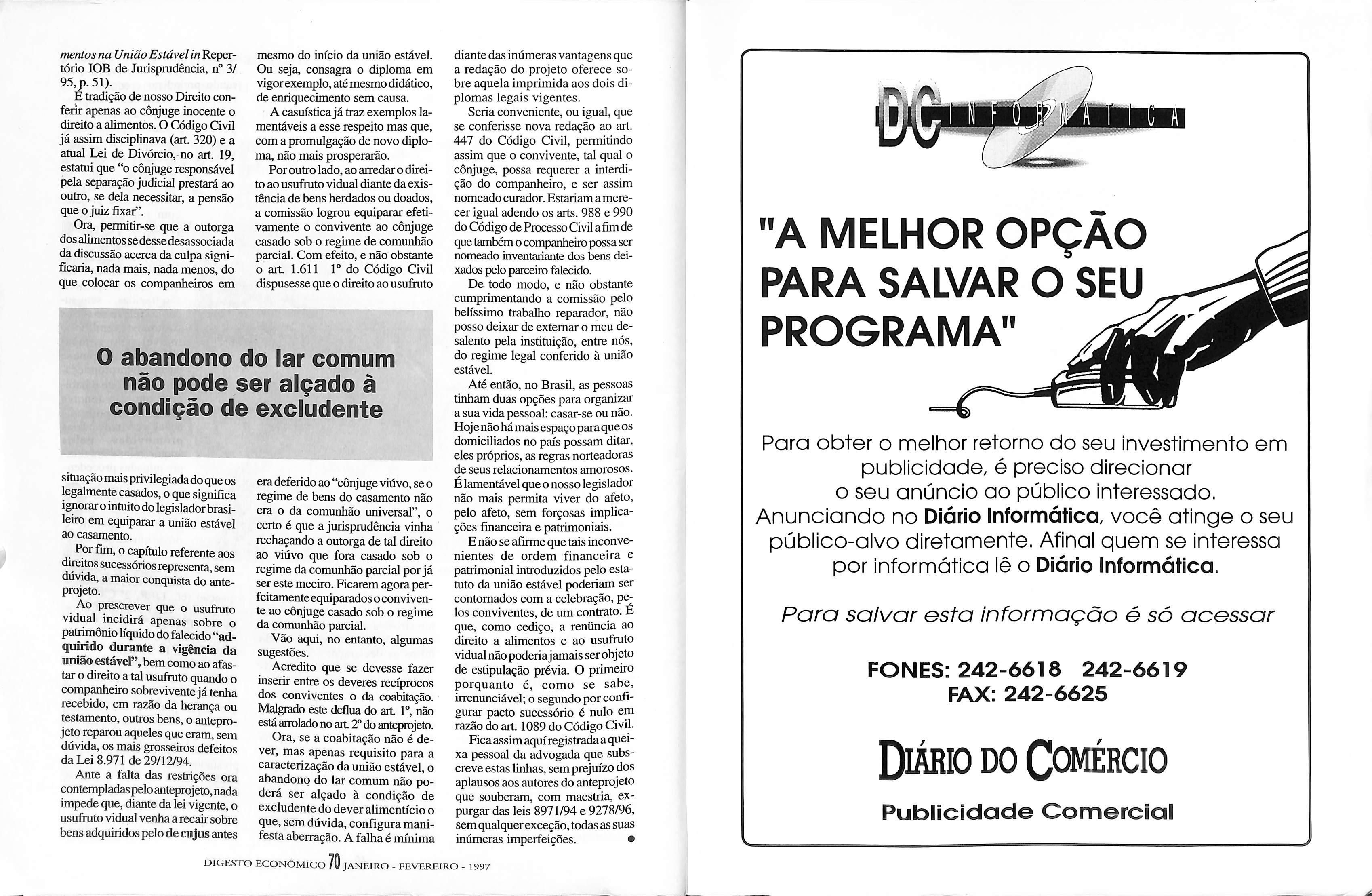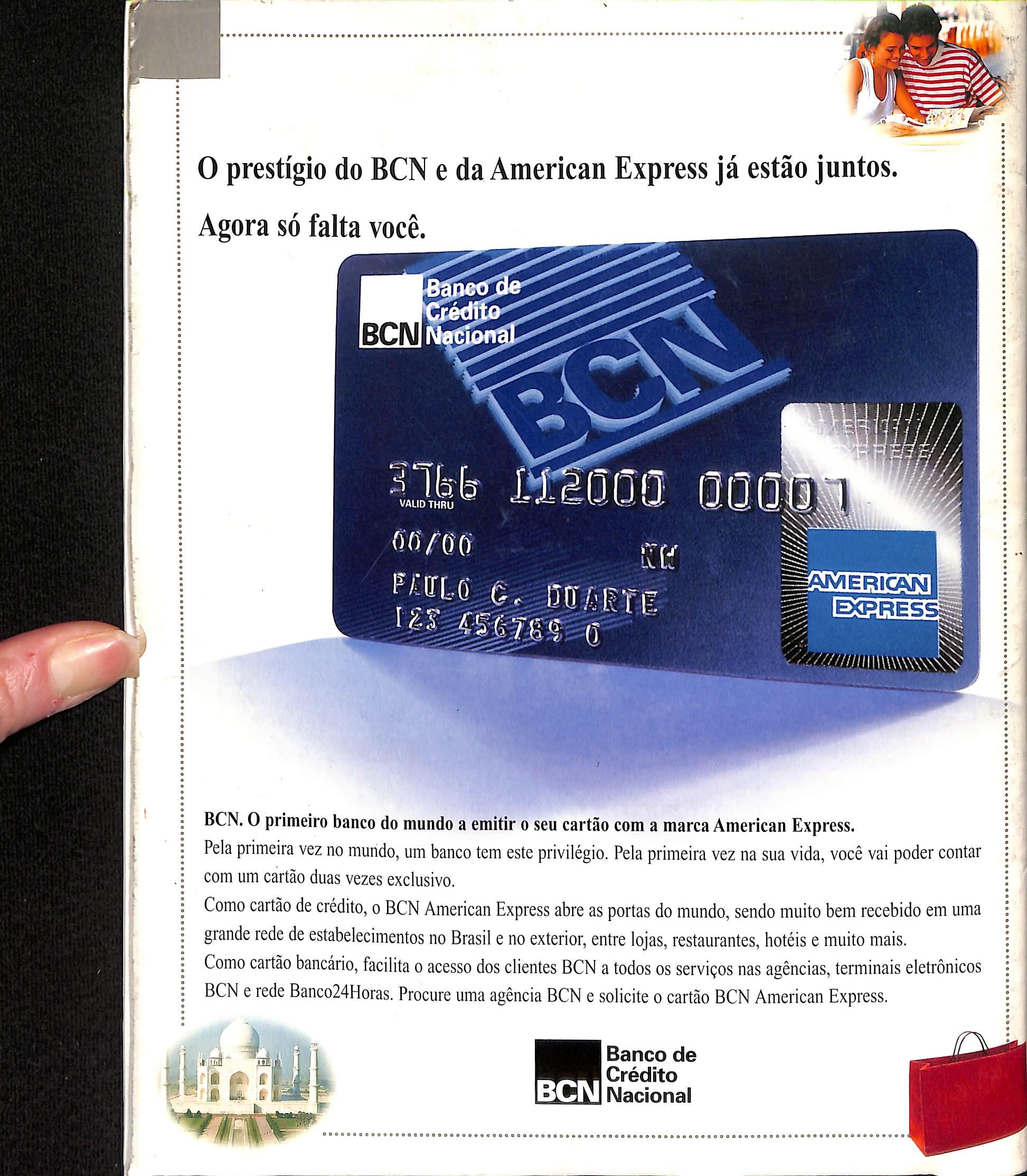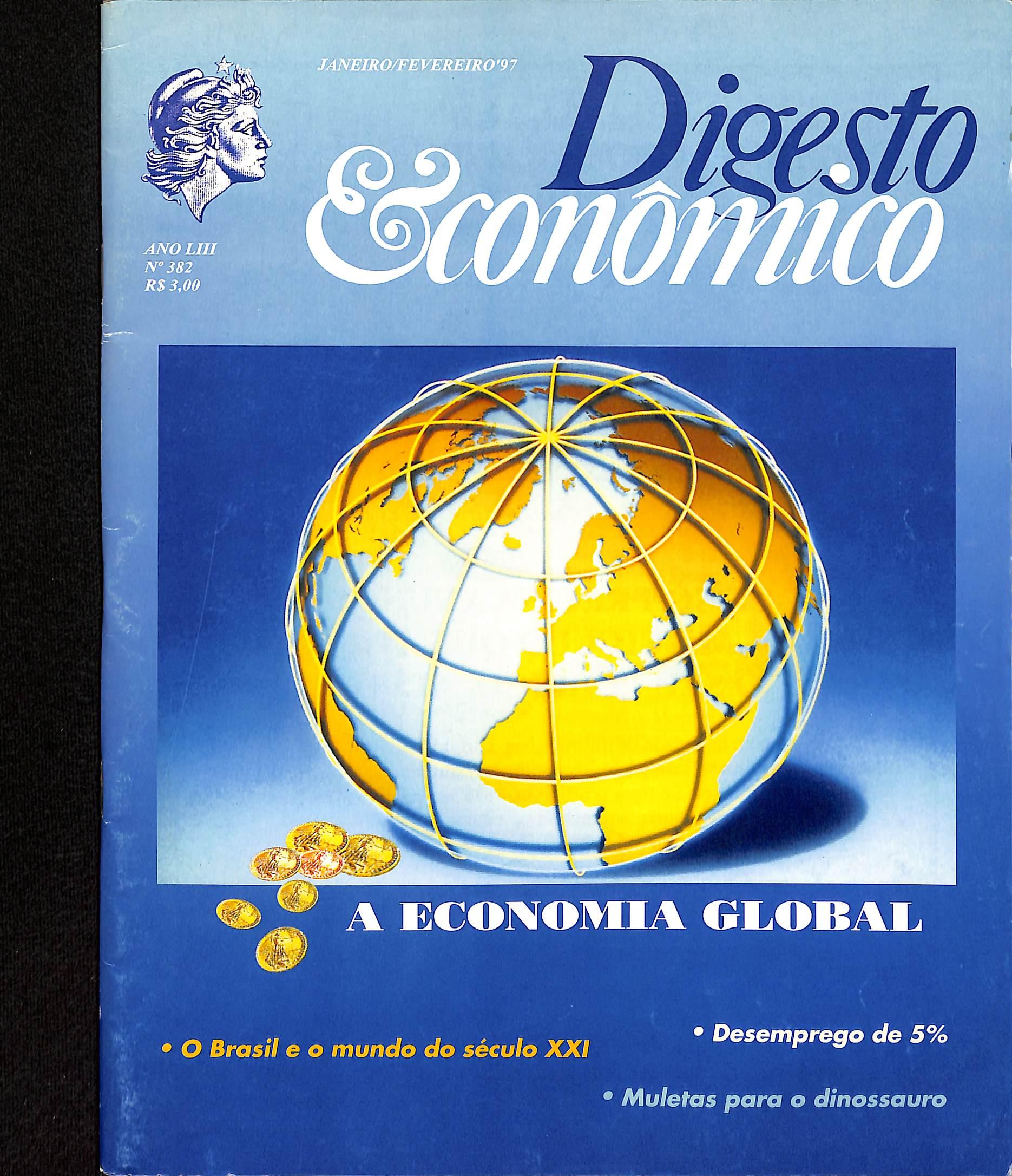
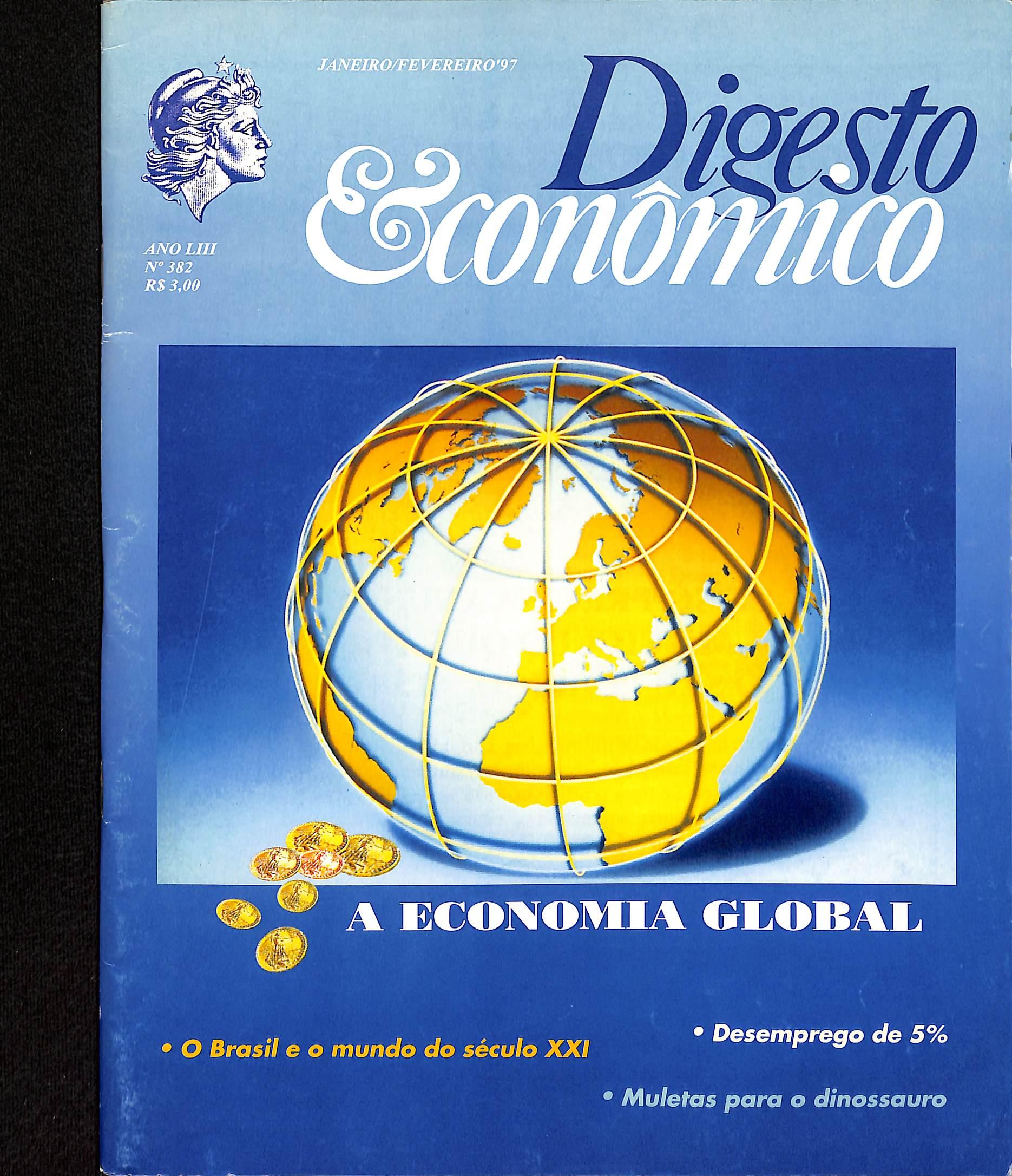
EM UM VEÍCULO QUE ATINJA
empresários
Um iornal com qualidade de informações. Dirigido a leitores especiais, , executivos, contadores, economistas, administradores, advogados e investidores. Se estes profissionais são seu público-alvo garanta retomo a seu anúncio.
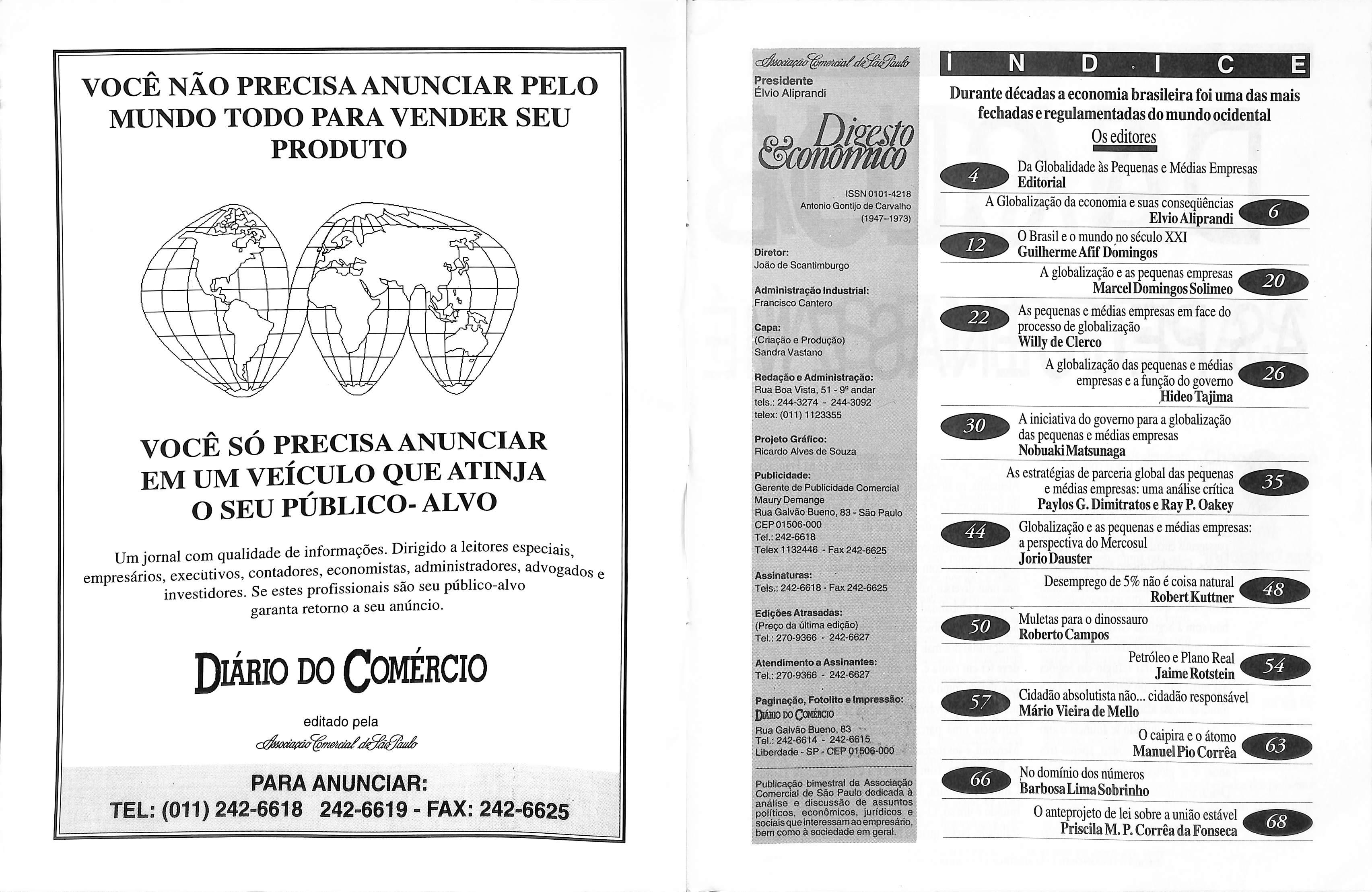
pela
Presidente
Élvio Aliprandi
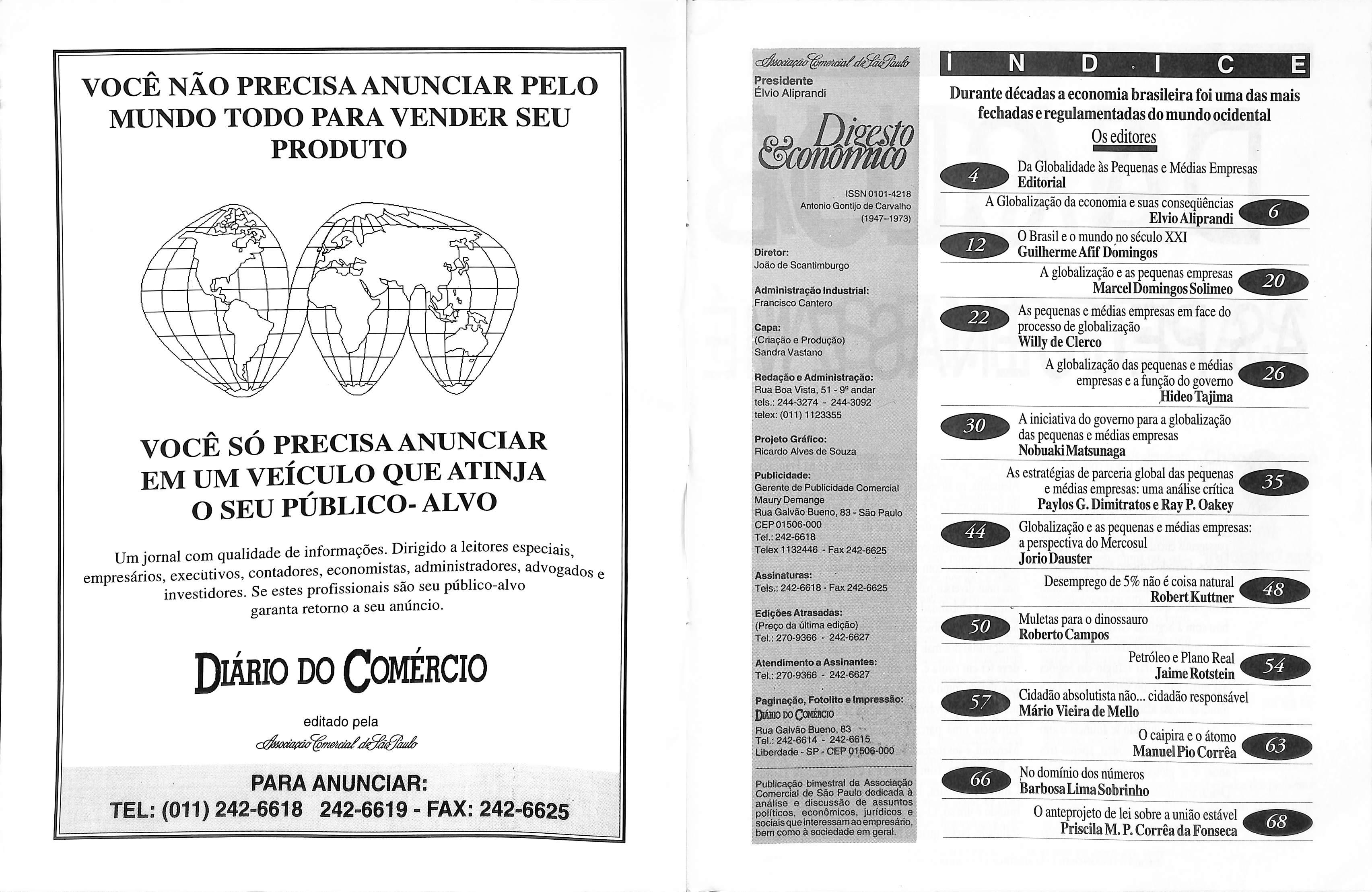
ISSN 0101-4218
Antonio Gontijo de Carvalho (1947-1973)
Diretor:
João de Scanlimburgo
Administração industriai:
Francisco Cantero
Capa:
(Criação e Produção)
Sandra Vastano
Redação e Administração:
Rua Boa Vista, 51 - 9® andar tels.: 244-3274 - 244-3092 telex: (011)1123355
Projeto Gráfico: Ricardo Alves de Souza
Publicidade:
Gerente de Publicidade Comercial
MauryDemange
Rua Galvâo Bueno, 83 - São Paulo
CEP01506-000
Tel.: 242-6618
D N ■
Durante décadas a economia brasileira foi uma das mais fechadas e regulamentadas do mundo ocidental Os editores
Da Globalidade às Pequenas e Médias Empresas
Editorial
A Globalização da economia e suas conseqüências EIvio Aliprandi
O Brasil e o mundo no século XXI Guilherme Afif Domingos
A globalização e as pequenas empresas Marcei Domingos Solimeo
22
30
As pequenas e médias empresas em face do processo de globalização Willy de Clerco
A globalização das pequenas e médias empresas e a função do governo flideoTajima
A iniciativa do governo para a globalização das pequenas e médias empresas
Nobuaki Matsunaga
As estratégias de parceria global das pequenas e médias empresas: uma análise crítica Paylos G. Dimitratos e Ray P. Oakey
Telex 1132446 - Fax 242-6625 35
44
Assinaturas:
Tels-,: 242-6618 - Fax 242-6625
Edições Atrasadas:
(Preço da última edição)
Tel.: 270-9366 - 242-6627
Atendimento a Assinantes:
Tel.; 270-9366 - 242-6627
Paginação, Fotolito e impressão:
ClAfliODOC0«ÉItCIO
Rua Galvâo Bueno, 83
Tel.: 242-6614 - 242-6615. Liberdade - SP - CEP O15O6-OÒ0. -
Publicação bimestral da Associação Comercial de São Paulo dedicada à análise e discussão de assuntos políticos, econômicos, jurídicos e- sociais que interessamao empresário, bem como à sociedade em gerai.
IGlobalização e as pequenas e médias empresas: a perspectiva do Mercosul JorioDauster
Desemprego de 5% não é coisa natural RobertKuttner
Muletas para o dinossauro Roberto Campos
Petróleo e Plano Real Jaime Rotstein
Cidadão absolutista não... cidadão responsável Mário Vieira de Mello
0 caipira e o átomo Manuel Pio Corrêa
No domínio dos números BarbosaLima Sobrinho
0 anteprojeto de lei sobre a união estável Priscila M. P, Corrêa da Fonseca
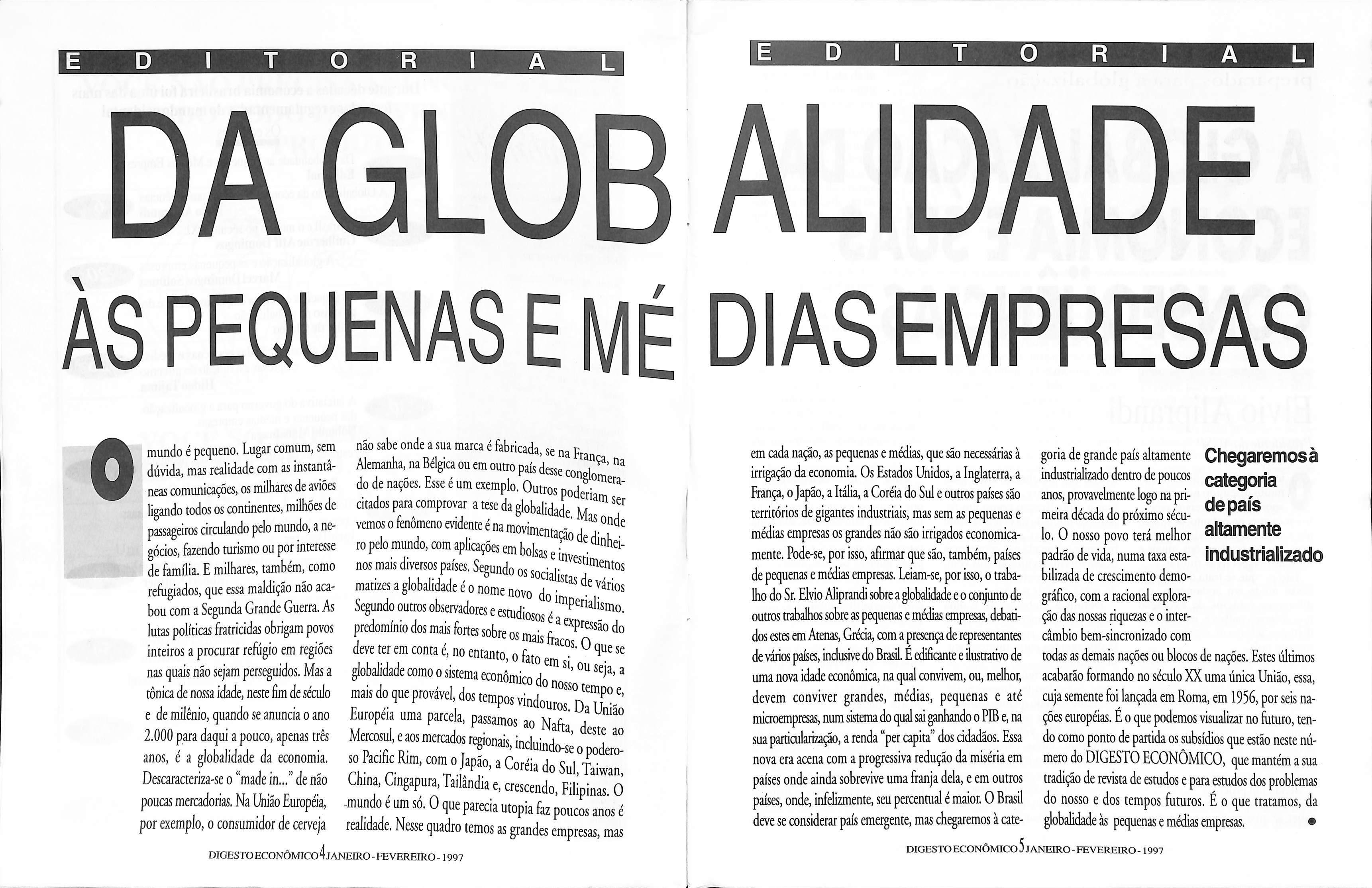
DAGLO iS PEQUENAS E
Omundo é pequeno. Lugar comum, sem não sabe onde a sua marca é fabricada, se na Franc dúvida, mas realidade com as instantâ- Alemanha, na Bélgica ou em outro país desse conglom neas comunicações, os milhares de aviões do de nações. Esse é um exemplo. Outros poderiam'”" ligando todos os continentes, milhões de citados para comprovar a tese da globalidade Ma passageiros circulando pelo mundo, a ne- vemos o fenômeno evidente é na movimentado d h' k ● gócios, fazendo turismo ou por interesse ro pelo mundo, com aplicações em bolsas e inv '● de família. E milhares, também, como nos mais diversos países. Segundo os socialk fugiados, que essa maldição não aca- matizes a globa idade é o nome novo do ' bou com a Segunda Grande Guerra. As Segundo outros observadores e estudiosos' lutas políticas fratticidas obrigam povos predomínio dos mais fortes sobre os mais f ^ inteiros a procurar refúgio em regiões deve ter em conta é, no entanto, o fato ^ nas quais não sejam perseguidos. Mas a globalidade como o sistema econômico d * tônica de nossa idade, neste fim de século mais do que provável, dos tempos vindou*^°^^° e de milênio, quando se anuncia o ano Européia uma parcela, passamos ao Naft' 2.000 para daqui a pouco, apenas três Mercosul, e aos merados reninnaic ■ anos, e a globalidade da economia, so Pacific Rim, com o Japão, a Coréia do Sul T ' Descaracteriza-se o “made in... ” de não China, Cingapura, Tailândia ipoucas mercadorias. Na União Européia, .mundo é um só. O que parecia por exemplo, o consumidor de cerveja realidade. Nesse quadro temos
na ser onde re QO que se deste ao C) crescendo, Filipinas. O utopia faz poucos anos é as grandes empresas, mas
DADE DIAS EMPRESAS
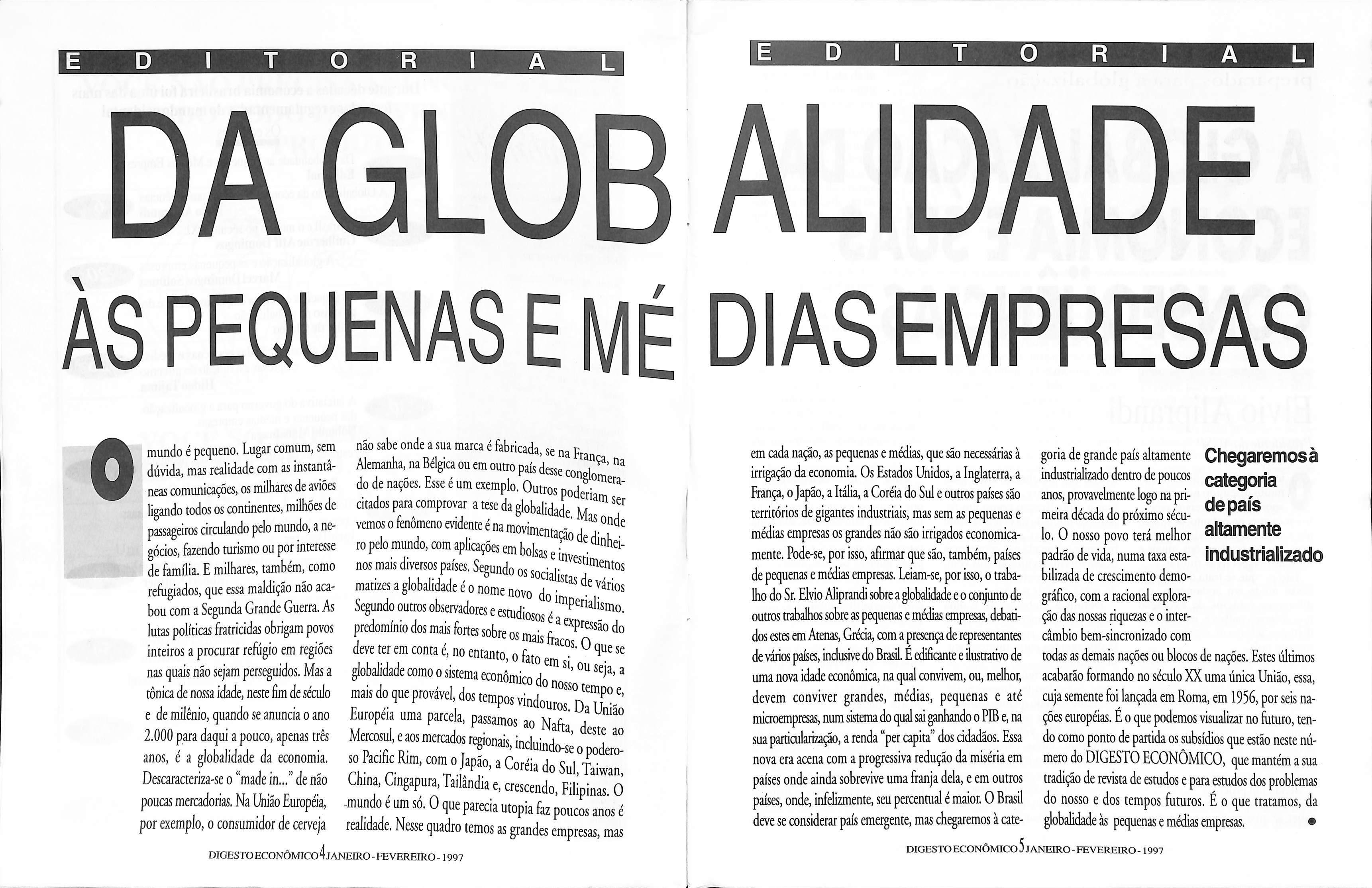
em cada naçao, as pequenas e médias, que sao necessárias à irrigação da economia. Os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, o Japão, a Itália, a Coréia do Sul e outros países sao territórios de gigantes industriais, mas sem as pequenas e médias empresas os grandes não são irrigados economia mente. Pode-se, por isso, afirmar que são, também, países de pequenas e médias empresas. Leiam-se, por isso, o traba lho do Sn Elvio Aliprandi sobre a globalidade e o conjunto de outros trabalhos sobre as pquenas e médias empresas, debati dos estes em Atenas, Grécia, com a presença de representantes de vários países, inclusive do Brasil. E edificante e ilustrativo de uma nova idade economia, na qual convivem, ou, melhor, devem conviver grandes, médias, pequenas e até microempresas, num sistema do qual sai ganhando o PIB e, na pardcularizaçâo, a renda “per apita” dos cidadãos. Essa nova era acena com a progressiva redução da miséria em países onde ainda sobrevive uma franja dela, e em outros países, onde, infelizmente, seu percenmal é maior. O Brasi deve se considerar país emergente, mas chegaremos à ate-
goria de grande país altamente ChegarBmOS à industrializado dentro de poucos Q3t0gof jg provavelmente logo na pri- jjgpg,'g meira déada do próximo sécu- ^ lo. O nosso povo terá melhor 3ltam6nt6 padrão de vida, numa taxa esta- ÍndUStrÍalÍZadO bilizada de crescimento demo-
anos gráfico, com a racional explora ção das nossas riquezas e o inter câmbio bem-sincronizado com todas as demais nações ou blocos de nações. Estes últimos aabarão formando no século XX uma únia União, essa, cuja semente foi lançada em Roma, em 1956, por seis na ções européias. É o que podemos visualizar no futuro, ten do como ponto de partida os subsídios que estão neste nú mero do DIGESTO ECONÔMICO, que mantém a sua tradição de revista de estudos e para estudos dos problemas do nosso e dos tempos futuros. É o que tratamos, da globalidade ás pequenas e médias empresas. ●
Os empresários brasileiros estão preparados para a globalização
GLOBALIZACAO ÜL ECONOMIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS
* i
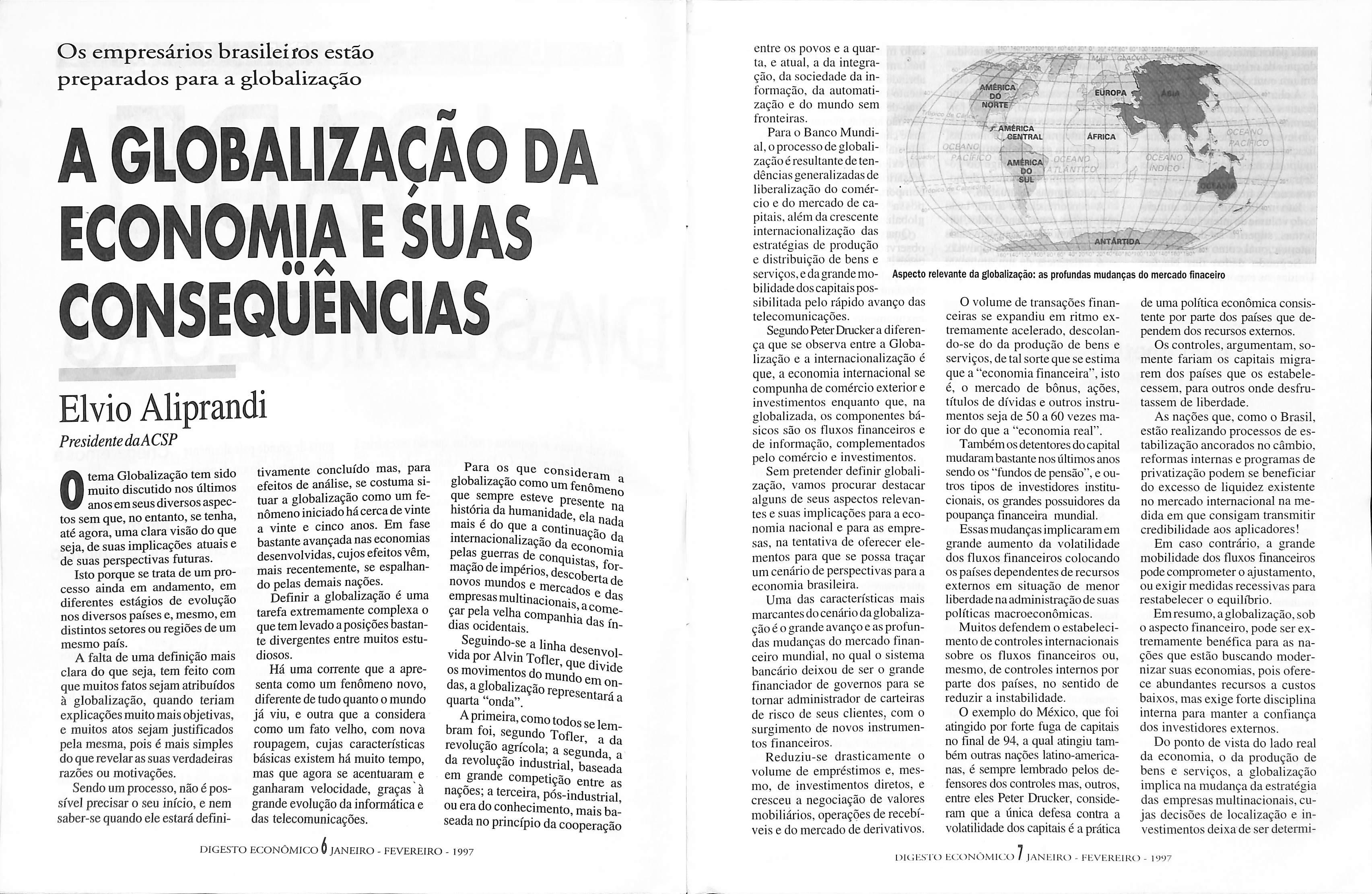
Elvio Aliprandi
Presidente daACSP
0tema Globalização tem sido muito discutido nos últimos anos em seus diversos aspec tos sem que, no entanto, se tenha, até agora, uma clara visão do que seja, de suas implicações atuais e de suas perspectivas futuras.
Isto porque se trata de um proainda em andamento, em
tuar a cesso diferentes estágios de evolução nos diversos países e, mesmo, em distintos setores ou regiões de um mesmo país.
A falta de uma definição mais ciara do que seja, tem feito com que muitos fatos sejam atribuídos à globalização, quando teriam explicações muito mais objetivas, e muitos atos sejam justificados pela mesma, pois é mais simples do que revelar as suas verdadeiras razões ou motivações.
Para os tivamente concluído mas, para efeitos de analise, se costuma siglobalização como um fe nômeno iniciado ha cerca de vinte a vinte e cinco anos. Em fase bastante avançada nas economias desenvolvidas, cujos efeitos vêm, mais recentemente, se espalhan do pelas demais nações.
Definir a globalização é uma tarefa extremamente complexa o que tem levado aposições bastan te divergentes entre muitos estu diosos.
Há uma corrente que a apre senta como um fenômeno novo, diferente de tudo quanto o mundo já viu, e outra que a considera como um fato velho, com nova roupagem, cujas características básicas existem há muito tempo, mas que agora se acentuaram e ganharam velocidade, graças à grande evolução da informática e das telecomunicações.
ECONÔMICO é JANEIRO - FEVEREIRO
. consider, globalizaçao como um feno que sempre esteve presente na historia da humanidade eU . mais é do que a continualoíinternacionalização da emn pelas guerras de conquistari"’® maçao de impérios, descobe;!T novos mundos e mercados' . empresas multinacionais f çar pela velha companhik f dias ocidentais. '
am a nieno
Sendo um processo, não é pos sível precisar o seu início, e nem saber-se quando ele estará definiina entre as
Seguindo-se a linha vidaporAlvinTofler,quedesenv.i ir" os movimentos do mundo erfn*" das, a globalização representar quarta “onda”. ^ dentara
A primeira, como todos se lem bram foi, segundo Tofler, a S^a revolução agrícola; a segunda a da revolução industrial, baseada em grande competição nações; a terceira, pós-industrial, ou era do conhecimento, mais ba seada no piincípio da cooperação
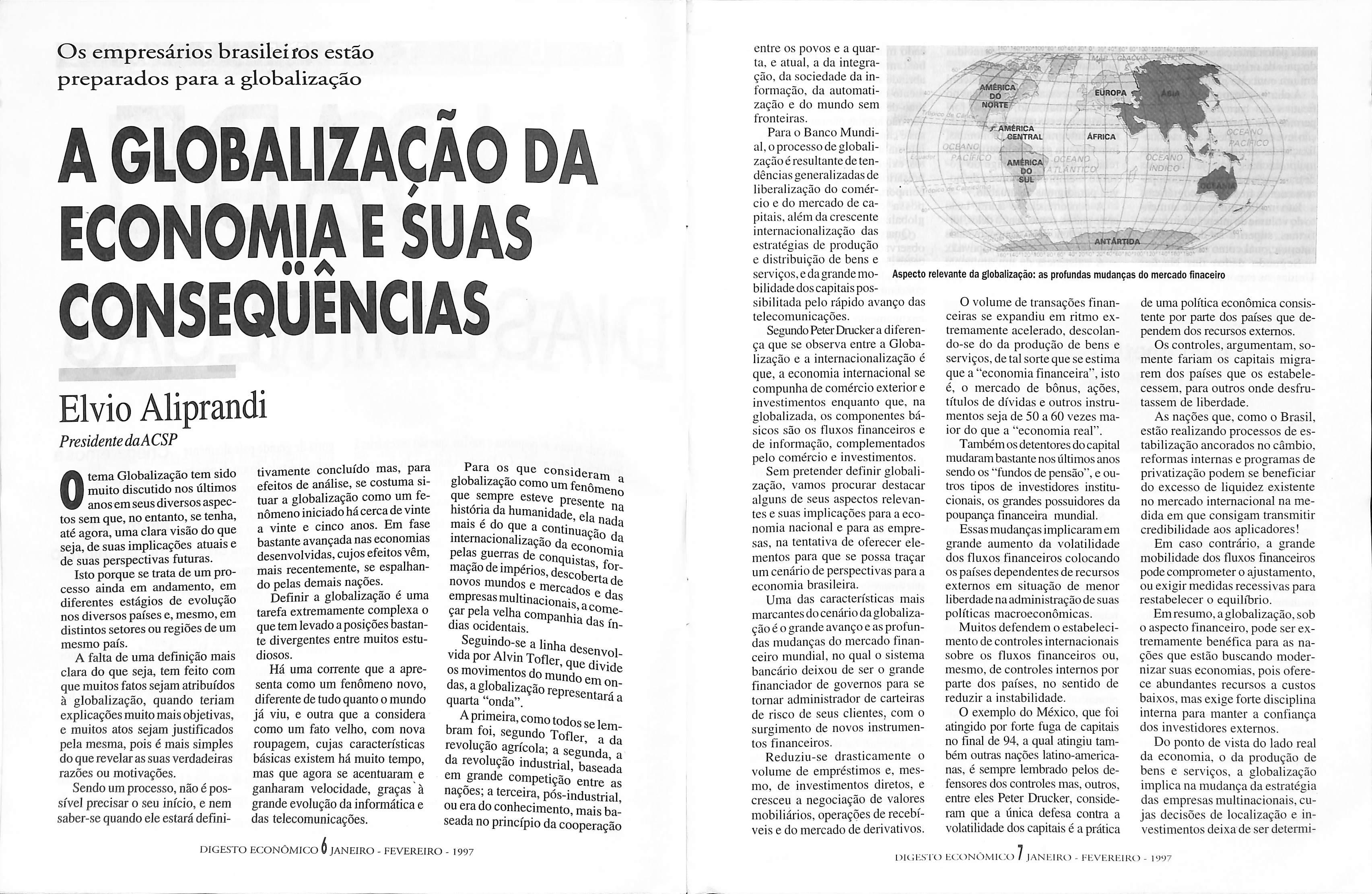
entre os povos e a quar ta. e atual, a da integra ção, da sociedade da iníbrmação, da automati zação e do mundo sem fronteiras.
Para o Banco Mundi al, o processo de globali zação éresultante de ten dências generalizadas de liberalização do comér cio e do mercado de ca pitais, além da crescente internacionalização das estratégias de produção e distribuição de bens e serviços, e da grande mobi idade dos capitais pos sibilitada pelo rápido avanço das telecomunicações.
Aspecto relevante da globalização: as profundas mudanças do mercado finaceiro
Segundo Peter Dmcker a d ferença que se observa entre a Globa lização e a internacionalização é que, a economia internacional se compunha de comércio exterior e investimentos enquanto que, na globalizada, os componentes bá sicos são os fluxos financeiros e de informação, complementados pelo comércio e investimentos.
Sem pretender definir globali zação, vamos procurar destacar alguns de seus aspectos relevan tes e suas implicações para a eco nomia nacional e para as empre sas, na tentativa de oferecer ele-
mentos para que se possa traçar um cenário de perspectivas para a economia brasileira.
Uma das características mais marcantes do cenário da globaliza ção é o grande avanço e as profun das mudanças do mercado finan ceiro mundial, no qual o sistema bancário deixou de ser o grande financiador de governos para se tornar administrador de carteiras de risco de seus clientes, com o surgimento de novos instrumen tos financeiros.
Reduziu-se drasticamente o volume de empréstimos e, mesde investimentos diretos, e mo, cresceu a negociação de valores mobiliários, operações de recebíveis e do mercado de derivativos.
O volume de transações finan ceiras se expandiu em ritmo ex tremamente acelerado, descolan do-se do da produção de bens e serviços, de tal sorte que se estima que a “economia financeira”, isto é, o mercado de bônus, ações, títulos de dívidas e outros instru mentos seja de 50 a 60 vezes ma ior do que a “economia real”.
Também os detentores do capital mudaram bastante nos últimos anos sendo os “fundos de pensão", e ou tros tipos de investidores institu cionais, os grandes possuidores da poupança financeira mundial.
Essas mudanças implicaram em grande aumento da volatilidade dos fluxos financeiros colocando os países dependentes de recursos externos em situação de menor liberdade na administração de suas políticas macroeconômicas.
Muitos defendem o estabeleci mento de controles internacionais sobre os fluxos financeiros ou, mesmo, de controles internos por parte dos países, no sentido de reduzir a instabilidade.
O exemplo do México, que foi atingido por foite fuga de capitais no final de 94, a qual atingiu tam bém oLitius nações latino-america nas, é sempre lembrado pelos de fensores dos controles mas, outros, entre eles Peter Dmcker, conside ram que a única defesa contra a volatilidade dos capitais é a prática
de uma política econômica consis tente por parte dos países que de pendem dos recursos externos.
Os controles, argumentam, so mente fariam os capitais migra rem dos países que os estabele cessem. para outros onde desfru tassem de liberdade.
As nações que, como o Brasil, estão realizando processos de es tabilização ancorados no câmbio, reformas internas e programas de privatização podem se beneficiar do excesso de liquidez existente no mercado internacional na me dida em que consigam transmitir credibilidade aos aplicadores!
Em caso contrário, a grande mobilidade dos fluxos financeii*os pode comprometer o ajustamento, ou exigir medidas recessivas para restabelecer o equilíbrio.
Em resumo, aglobalização, sob o aspecto financeiro, pode ser ex tremamente benéfica para as na ções que estão buscando moder nizar suas economias, pois ofere ce abundantes recursos a custos baixos, mas exige forte disciplina interna para manter a confiança dos investidores externos.
Do ponto de vista do lado real da economia, o da produção de bens e serviços, a globalização implica na mudança da estratégia das empresas multinacionais, cu jas decisões de localização e in vestimentos deixa de ser determi-
nada pelos interesses da matriz e do país de origem, para se basear em um conceito ^obal.
A eliminação, ou redução signi ficativa das barreiras comerciais, permite que a estratégia de produ ção leve em consid^:ação aracionalização das atividades das empresas multinacionais, hoje já chamadas detransnacionais, semsepreocuparem com as fix)nteiras geográficas.
Isto implica em grande aumen to do volume de intercâmbio intrafirmas, superior ao do comércio internacional como um todo.
Segundo dados das Nações Unidas, as exportações entre ma-
que pelas condições oferecidas isoladamente por algum país.
A rapidez e a intensidade com que se processam as mudanças no mundo globalizado, seja por for ça do progresso tecnológico ou da maior integração das economias, introduz um grau de incerteza em relação ao futuro e exige do go verno e empresas a busca de no vos paradigmas de atuação.
A concorrência se acirra, tanto entre paí^, como dentro deles, tor nando a luta pela competitividade tarefados setorespúbücoedopnvado.
A existência de um ambiente econômico favorável, é condição
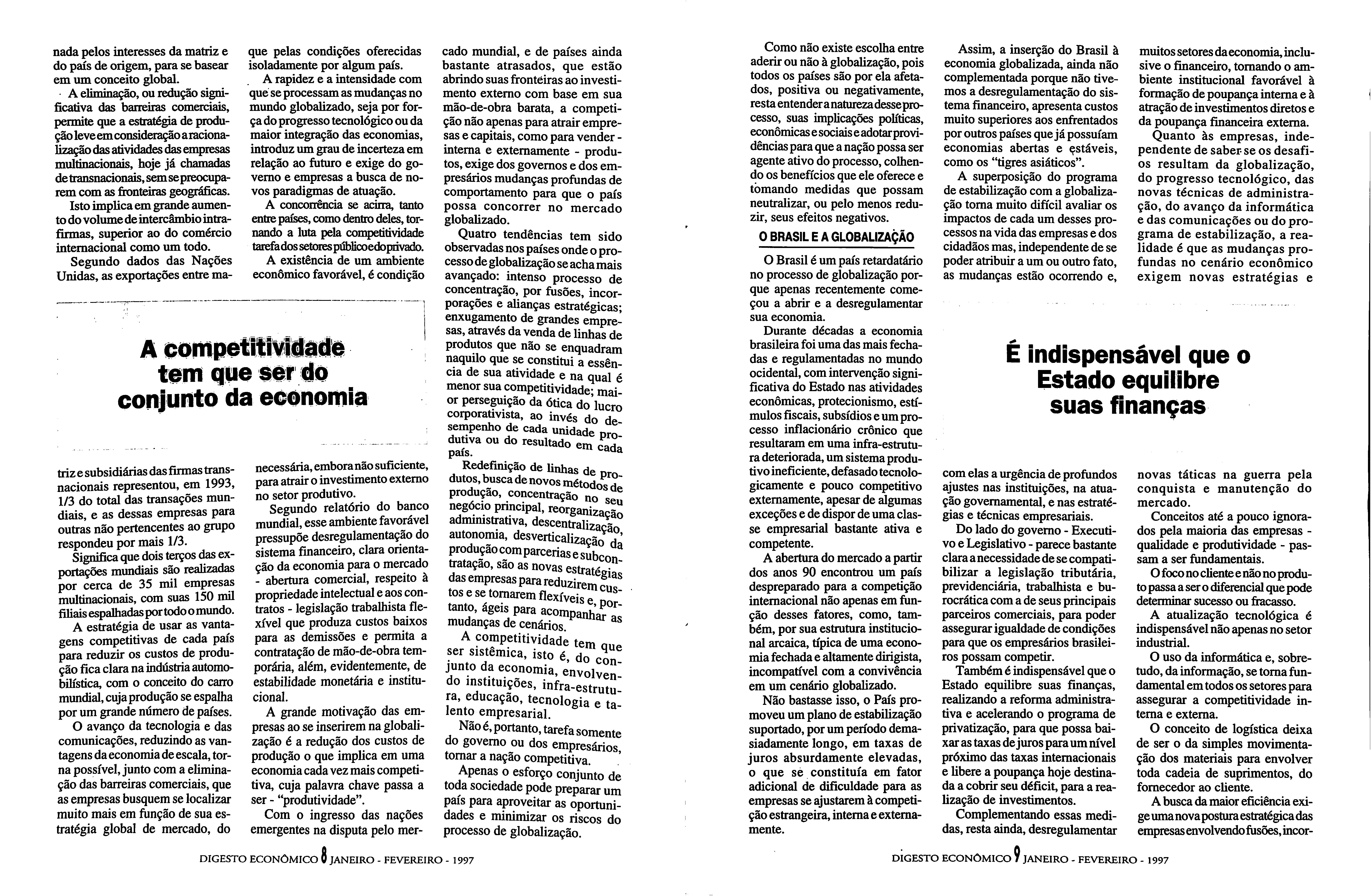
cado mundial, e de países ainda bastante atrasados, que estão abrindo suas fronteiras ao investi mento externo com base em sua mão-de-obra barata, a competi ção não apenas para atrair empre sas e capitais, como para venderinterna e extemamente - produ tos, exige dos governos e dos em presários mudanças profundas de comportamento para que o país possa concorrer no mercado globalizado.
Quatro tendências tem sido observadas nos países onde o pro cesso de globalização se acha mais avançado: intenso processo de concentração, por fusões, incor porações e alianças estratégicas; enxugamento de grandes empre sas, através da venda de linhas de produtos que não se enquadram naquilo que se constitui a essên cia de sua atividade
conjunto da eGononiia
triz e subsidiárias das firmas transnacionais representou, em 1993, 1/3 do total das transações mun diais, e as dessas empresas para outras não pertencentes ao grupo respondeu por mais 1/3.
Significa que dois terços das ex- {Ktttações mundiais são realizadas por cerca de 35 mil empresas multinacionais, com suas 150 mil fiUais espalhadas por todo o mundo.
A estratégia de usar as vanta gens competitivas de cada país para reduzir os custos de produ ção fica clara na indústria automo bilística, com o conceito do carro mundial, cuja produção se espalha por um grande número de países.
necessária, embora não suficiente, para atrair o investimento externo no setor produtivo.
Segundo relatório do banco mundial, esse ambiente favorável pressupõe desregulamentação do sistema financeiro, clara orienta ção da economia para o mercado - abertura comercial, respeito à propriedade intelectual e aos con tratos - legislação trabalhista fle xível que produza custos baixos para as demissões e permita a contratação de mão-de-obra tem porária, além, evidentemente, de estabilidade monetária e institu cional.
A grande motivação das em presas ao se inserirem na globali zação é a redução dos custos de produção o que implica em uma economia cada vez mais competi tiva, cuja palavra chave passa a ser - “produtividade”.
Com o ingresso das nações emergentes na disputa pelo merECONÔMICO
e na qual é menor sua competitividade; mai- perseguição da ótica do lucro corporativista, ao invés do de sempenho de cada unidade dutiva ou do resultado país.
or proem cada
Redefimção de Unhas de nrn dutos, busca de novos método. hI produção, concentração no se» negócio principal, reorganizado admmistrativa, descentraUzacão autonomia, desverticalização hJproduçãocomparceriasesubcnn uatação, são as novas estratég^^; das empresas para reduzirem cm tose se tomarem flexíveis e nnr" tanto, ágeis para acompanh^ mudanças de cenários
A competitividade tem que ser sistêmica, isto é, do co^ junto da economia, envolven do instituições, infra-estrutu ra, educação, tecnologia e ta lento empresarial.
Nãoé, portanto, tarefasomente do governo ou dos
Apenas o esforço conjunto de toda sociedade pode preparar país para aproveitar as oportuni dades e minimizar os irscos do processo de globalização. um
O avanço da tecnologia e das comunicações, reduzindo as van tagens da economia de escala, tor na possível, junto com a elimina ção das barreiras comerciais, que as empresas busquem se localizar muito mais em flinção de sua es tratégia global de mercado, do as « cttipresários, tomar a nação competitiva.
Como não existe escolha entre aderir ou não à globalização, pois todos os países são por ela afeta dos, positiva ou negativamente, resta entenderanaturezadesseprocesso, suas implicações políticas, econômicas e sociais e adotar provi dências para que a nação possa ser agente ativo do processo, colhen do os benefícios que ele oferece e tbmando medidas que possam neutralizar, ou pelo menos redu zir, seus efeitos negativos.
0 BRASIL E A GLOBALIZAÇÃO
O Brasil é um país retardatário no processo de globalização por que apenas recentemente come çou a abrir e a desregulamentar sua economia.
Durante décadas a economia brasileira foi uma das mais fecha das e regulamentadas no mundo ocidental, com intervenção signi ficativa do Estado nas atividades econômicas, protecionismo, estí mulos fiscais, subsídios e um pro cesso inflacionário crônico que resultaram em uma infra-estrutu ra deteriorada, um sistema produ tivo ineficiente, defasado tecnologicamente e pouco competitivo extemamente, apesar de dgumas exceções e de dispor de uma clas se empresarial bastante ativa e competente.
A abertura do mercado a partir dos anos 90 encontrou um país despreparado para a competição internacional não apenas em fun ção desses fatores, como, tam bém, por sua estmtura institucio nal arcaica, típica de uma econo mia fechada e altamente dirigista, incompatível com a convivência em um cenário globalizado. Não bastasse isso, o País pro moveu um plano de estabilização suportado, por um período dema siadamente longo, em taxas de juros absurdamente elevadas, o que se constituía em fator adicional de dificuldade para as empresas se ajustarem à competi ção estrangeira, interna e extema mente.
Assim, a inserção do Brasil à economia globalizada, ainda não complementada porque não tive mos a desregulamentação do sis tema financeiro, apresenta custos muito superiores aos enfrentados por outros países que já possuíam economias abertas e çstáveis, como os “tigres asiáticos”.
A superposição do programa de estabilização com a globaliza ção toma muito difícil avaliar os impactos de cada um desses pro cessos na vida das empresas e dos cidadãos mas, independente de se poder atribuir a um ou outro fato, as mudanças estão ocorrendo e.
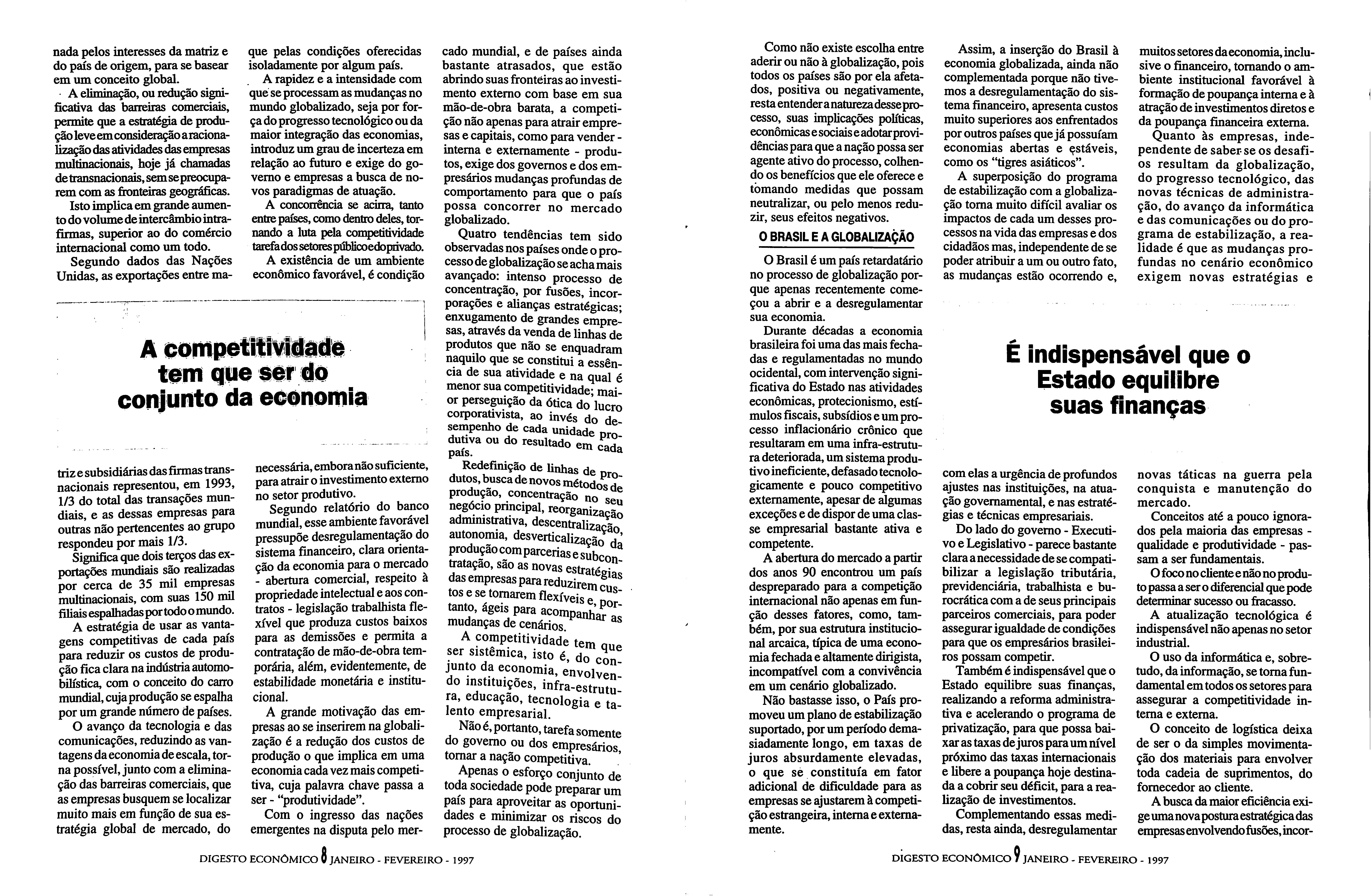
muitos setores da economia, inclu sive o financeiro, tomando o am biente institucional favorável à formação de poupança interna e à atração de investimentos diretos e da poupança financeira externa. Quanto às empresas, inde pendente de saber se os desafi os resultam da globalização, do progresso tecnológico, das novas técnicas de administra ção, do avanço da informática e das comunicações ou do pro grama de estabilização, a rea lidade é que as mudanças pro fundas no cenário econômico exigem novas estratégias e
É indispensável que o Estado equilibre suas finanças
com elas a urgência de profundos ajustes nas instituições, na atua ção governamental, e nas estraté gias e técnicas empresariais.
Do lado do governo - Executi vo e Legislativo - parece bastante clara a necessidade de se compati bilizar a legislação tributária, previdenciária, trabalhista e bu rocrática com a de seus principais parceiros comerciais, para poder assegurar igualdade de condições para que os empresários brasilei ros possam competir.
Também é indispensável que o Estado equilibre suas finanças, realizando a reforma administra tiva e acelerando o programa de privatização, para que possa bai xar as taxas de juros para um nível próximo das taxas internacionais e libere a poupança hoje destina da a cobrir seu déficit, para a rea lização de investimentos.
Complementando essas medi das, resta ainda, desregulamentar
novas táticas na guerra pela conquista e manutenção do mercado.
Conceitos até a pouco ignora dos pela maioria das empresasqualidade e produtividade - pas sam a ser fundamentais.
O foco no cliente e não no produ to passa a ser o diferencial que pode determinar sucesso ou fi:acasso.
A atualização tecnológica é indispensável não apenas no setor industrial.
O uso da informática e, sobre tudo, da informação, se toma fun damental em todos os setores para assegurar a competitividade in terna e externa.
O conceito de logística deixa de ser o da simples movimenta ção dos materiais para envolver toda cadeia de suprimentos, do fornecedor ao cliente.
A busca da maior eficiência exi ge uma nova postura estratégica das empresas envolvendo fusões, incor-
porações, parcerias comfomecedores, çom clientes e até, em alguns casos, com os concorrentes.
As fusões e incorporações de empresas vêm se intensificando em todo o mundo, tendo atingido nos Estados Unidos a US$ 300 bilhões em 1995, superando o recordede US$240 bilhõesde 1989.
No Brasil, no ano passado fo ram registradas 300 transações, envolvendo, muitas delas, cifras bastante elevadas.
Segundo pesquisa da Associa ção dos Executivos de Finanças, mais da metade dos investimentos empresariais previstos para 1997 será feita em fusões e aquisições.
Também a aquisição de empre sas, visando reforçar posições na economia global vem aumentando no País, com maior presença do capital estrangeiro na compra de empreendimentos, o que vem sen do facilitado pela estratégia globalizada de alguns setores, como automobilístico, e pela fragilida de da empresa nacional, castigada por taxas de juros insuportáveis durante um longo período.
Nesse cenário de mudanças por que passa a economia brasileira o setor siderúrgico sofre transfor-
mações ainda mais profundas, em decorrência da privatização ge neralizada efetuada nos últimos anos, em um processo de mudan ças ainda não consolidado.
Para os distribuidores de aço, os múltiplos desafios representa dos pela globalização, estabiliza ção, e mudanças setoriais, aliados à incerteza decorrente da política econômica e ao peso das taxas de juros elevadas, estão exigindo a redefinição de suas estratégias de atuação com base no tripé: flexi bilidade, produtividade e servi ços ao cliente.
Uma mudança fundamental que atinge o setor é o fim dos contro les a que estava submetido e sua exposição às regras do mercado, o que implica em um novo quadro de referências para a atuação das empresas.
O ponto de partida para a defi nição da nova estratégia é ter cons ciência de que profundas trans formações estão ocorrendo e que as mesmas impõem às empresas que procurem se adaptar a elas.
Depois, procurar entender a direção das mudanças e seu im pacto sobre o setor e a empresa e procurar se antecipar à concor¬
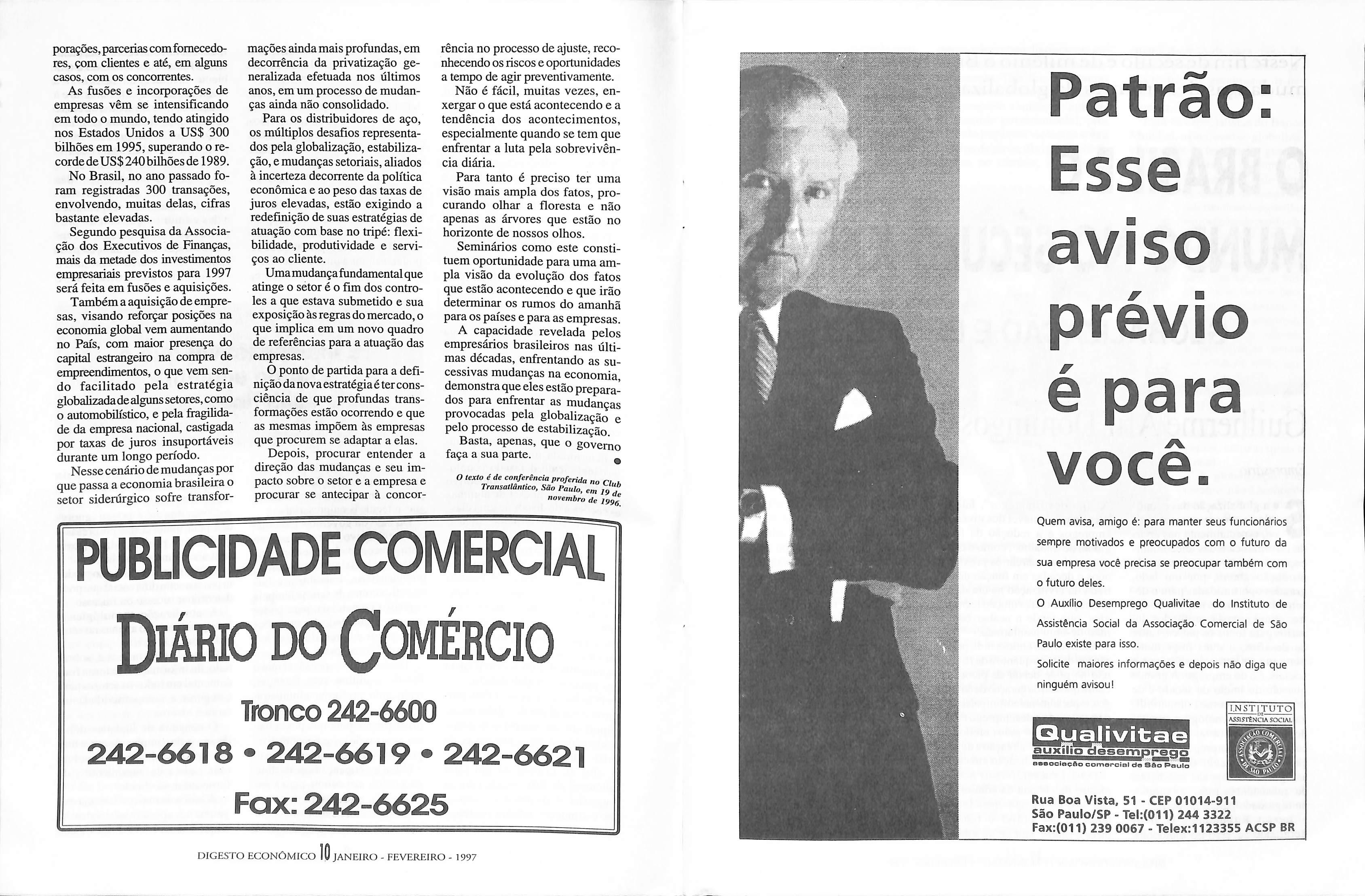
rência no processo de ajuste, reco nhecendo os riscos e oportunidades a tempo de agir preventivamente.
Não é fácil, muitas vezes, en xergar o que está acontecendo e a tendência dos acontecimentos, especialmente quando se tem que enfrentar a luta pela sobrevivên cia diária.
Para tanto é preciso ter uma visão mais ampla dos fatos, pro curando olhar a floresta e não apenas as árvores que estão no horizonte de nossos olhos.
Seminários como este consti tuem oportunidade para uma am pla visão da evolução dos fatos que estão acontecendo e que irão determinar os rumos do amanhã para os países e para as empresas.
A capacidade revelada pelos empresários brasileiros nas últi mas décadas, enfrentando cessivas mudanças na economia, demonstra que eles estão prepara dos para enfrentar as mudanças provocadas pela globalização e pelo processo de estabilização.
Basta, apenas, que faça a sua parte.
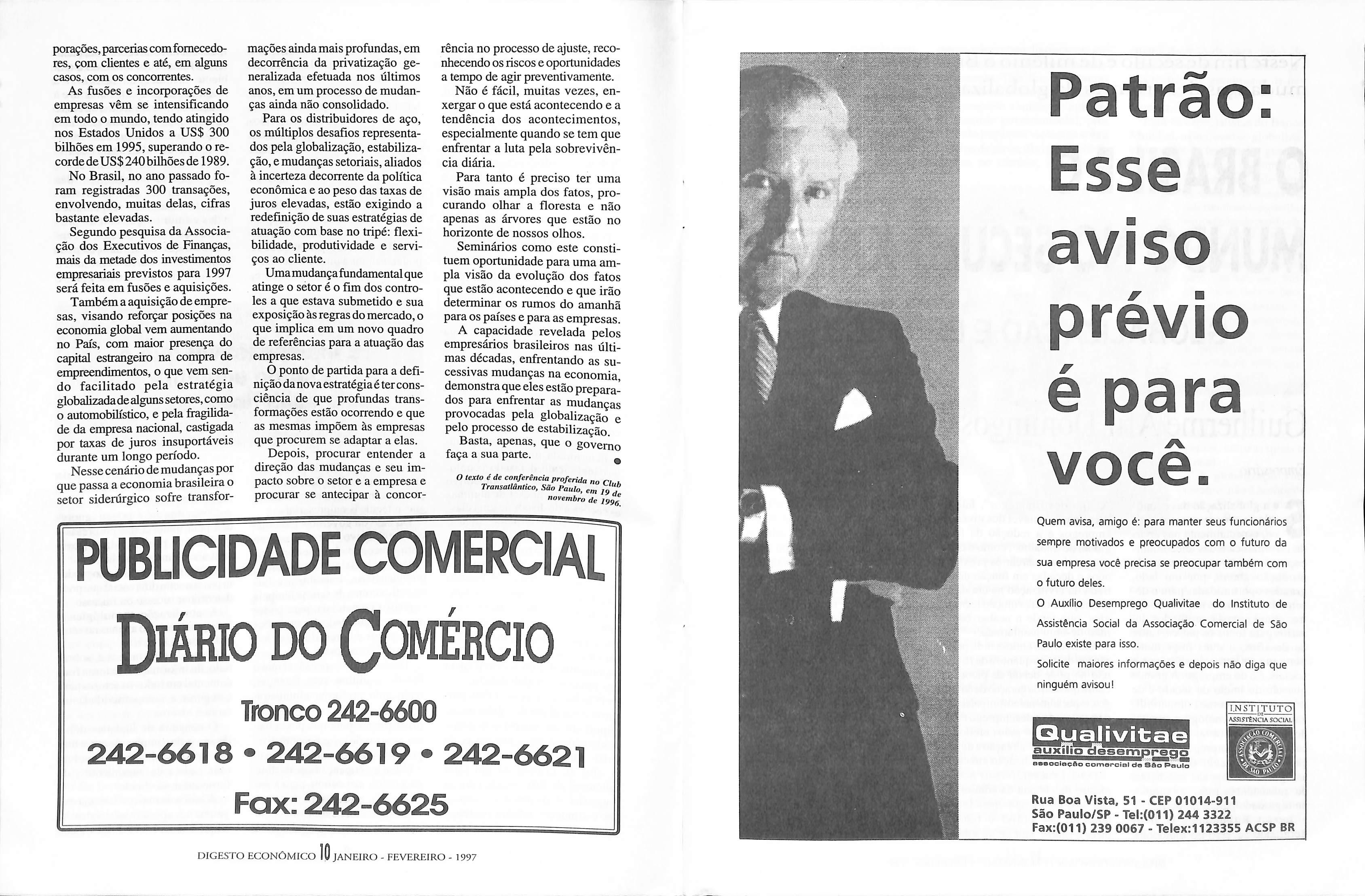
Patrão aviso prévio
é para você
Quem avisa, amigo é: para manter seus funcionários sempre motivados e preocupados com o futuro da sua empresa você precisa se preocupar também com 0 futuro deles.
O Auxílio Desemprego Qualivitae do Instituto de Assistência Social da Associação Comercial de São Paulo existe para isso. Solicite maiores informações e depois não diga que ninguém avisou!
auxilio dese mprjsgo aeaoeiBçAo comarcial de Sào Peulo
Rua Boa Vista. 51 - CEP 01014-911
São Paulo/SP - Tel:(011) 244 3322
Fax:(011) 239 0067 - Telex:1123355 ACSP BR
Neste fim de século e de milênio o Brasil enfrenta mudanças decorrentes da globalização
0 BRASIL E 0 MUNDO NO SÉCULO XXI
GLOBALIZAÇAO E EMPREGO
Guilherme Afif Domingos
Empresário
Sglobalização das ccono- progresso tecnológinas áreas
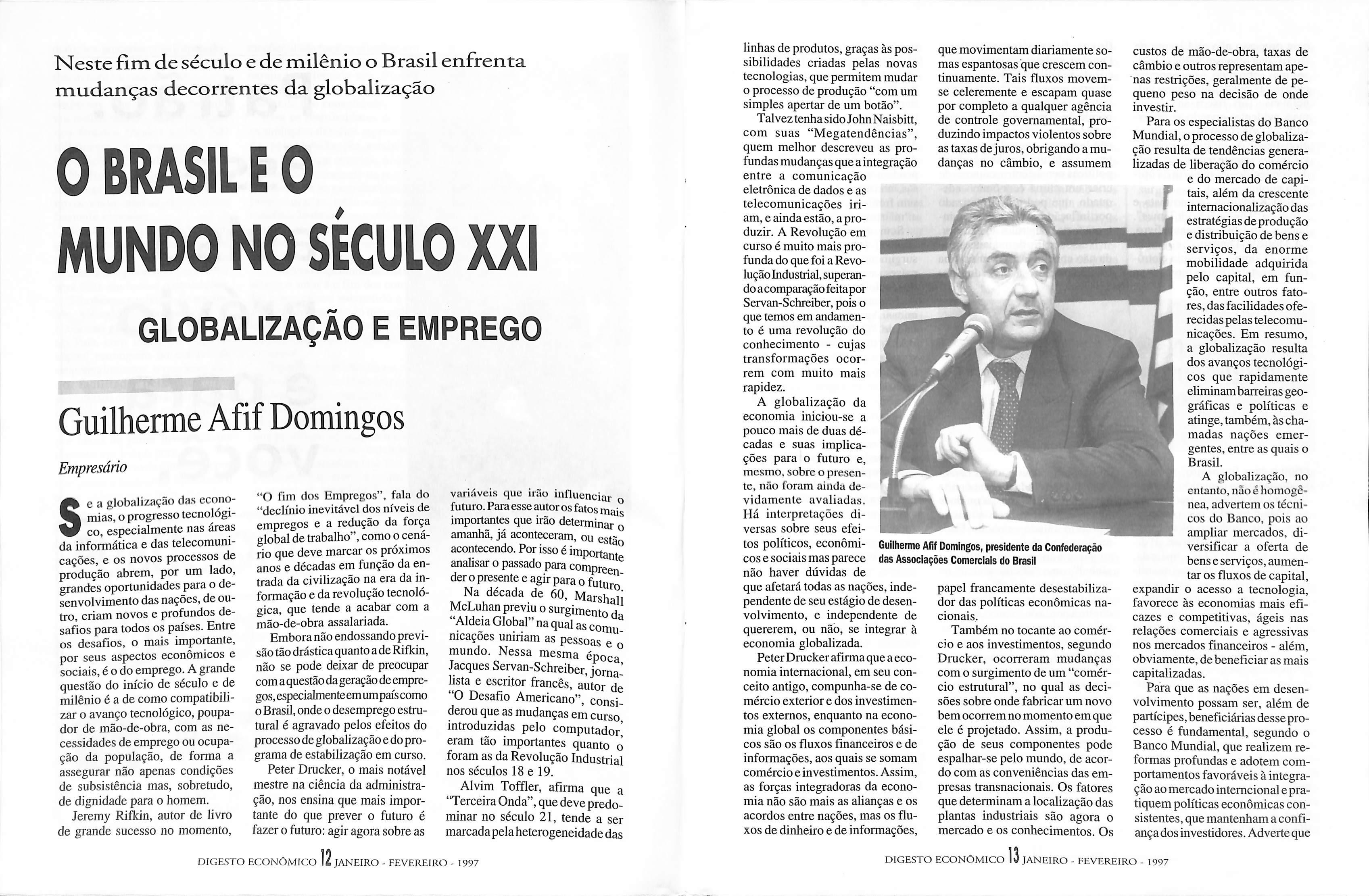
“O fim dos Empregos”, fala do “declínio inevitável dos níveis de empregos e a redução da força global de trabalho”, rio que deve marcar os próximos décadas em função da en trada da civilização na era da in formação e da revolução tecnoiótende a acabar com a
variáveis que iiao influenciar futuro. Para esse autor os fatos
o e a niais importantes que não determinaramanhã, já aconteceram, ou estã'" acontecendo. Por isso é important^ analisar o passado para cornpreen'^ der 0 presente e agir para o futuro' Na década de 60, Marshall McLuhan previu o surgimento dn “Aldeia Global” na qual as coniu nicações uniríam as pessoas mundo. Nessa mias, o especialmente da informática e das telecomuninovos processos de um lado, o CO, como o cenacações, e os produção abrem, por grandes oportunidades para o de senvolvimento das nações, de ou tro, criam novos e profundos de safios para todos os países. Entre desafios, o mais importante, por seus aspectos econômicos e sociais, é o do emprego. A grande questão do início de século e de milênio é a de como compatibili zar o avanço tecnológico, poupador de mão-de-obra, com as ne-
anos e gica, que mão-de-obra assalariada. Embora não endossando previ são tão drástica quanto a de Rifkin, se pode deixar de preocupar com a questão da geração de empre gos, especialmente em um país como o Brasil, onde o desemprego estru tural é agravado pelos efeitos do processo de globalização e do pro grama de estabilização em curso. Peter Drucker, o mais notável e o os mesma época Jaeques Servan-Schreiber, jorna’ lista e escritor francês, autor “O Desafio Americano”, consi derou que as mudanças em curso introduzidas pelo computador eram tão importantes quanto ’ foram as da Revolução Industrial nos séculos 18 e 19.
nao cessidades de emprego ou ocupa ção da população, de forma a assegurar não apenas condições de subsistência mas, sobretudo, de dignidade para o homem. Jeremy Rifkin, autor de livro de grande sucesso no momento. o mestre na ciência da administra- Alvim Toffler, afirma que a “Terceira Onda”, que deve predo minar no século 21, tende marcada pela heterogeneidade das çao, nos ensina que mais impor tante do que prever o futuro é fazer o futuro: agir agora sobre as a ser
linhas de produtos, graças às pos sibilidades criadas pelas novas tecnologias, que permitem mudar o processo de produção “com um simples apertar de um botão”.
Talvez tenha sido John Naisbitt, Megatendências”,
com suas quem melhor descreveu as pro fundas mudanças que a integração entre a comunicação eletrônica de dados e as telecomunicações iriam, e ainda estão, a pro duzir. A Revolução em curso é muito mais pro funda do que foi a Revo lução Industrial, superandoacomparaçãofeitapor Servan-Schreiber, pois o que temos em andamen to é uma revolução do conhecimento - cujas transformações ocor rem com muito mais rapidez.
A globalização da economia iniciou-se a pouco mais de duas dé cadas e suas implica ções para o futuro e, mesmo, sobre o presen te, não foram ainda de vidamente avaliadas. Há interpretações di versas sobre seus efei tos políticos, econômi cos e sociais mas parece não haver dúvidas de que afetará todas as nações, inde pendente de seu estágio de desen volvimento, e independente de quererem, ou não, se integrar à economia globalizada.
que movimentam diariamente so mas espantosas que crescem con tinuamente. Tais fluxos movemse celeremente e escapam quase por completo a qualquer agência de controle governamental, pro duzindo impactos violentos sobre as taxas de juros, obrigando a mu danças no câmbio, e assumem
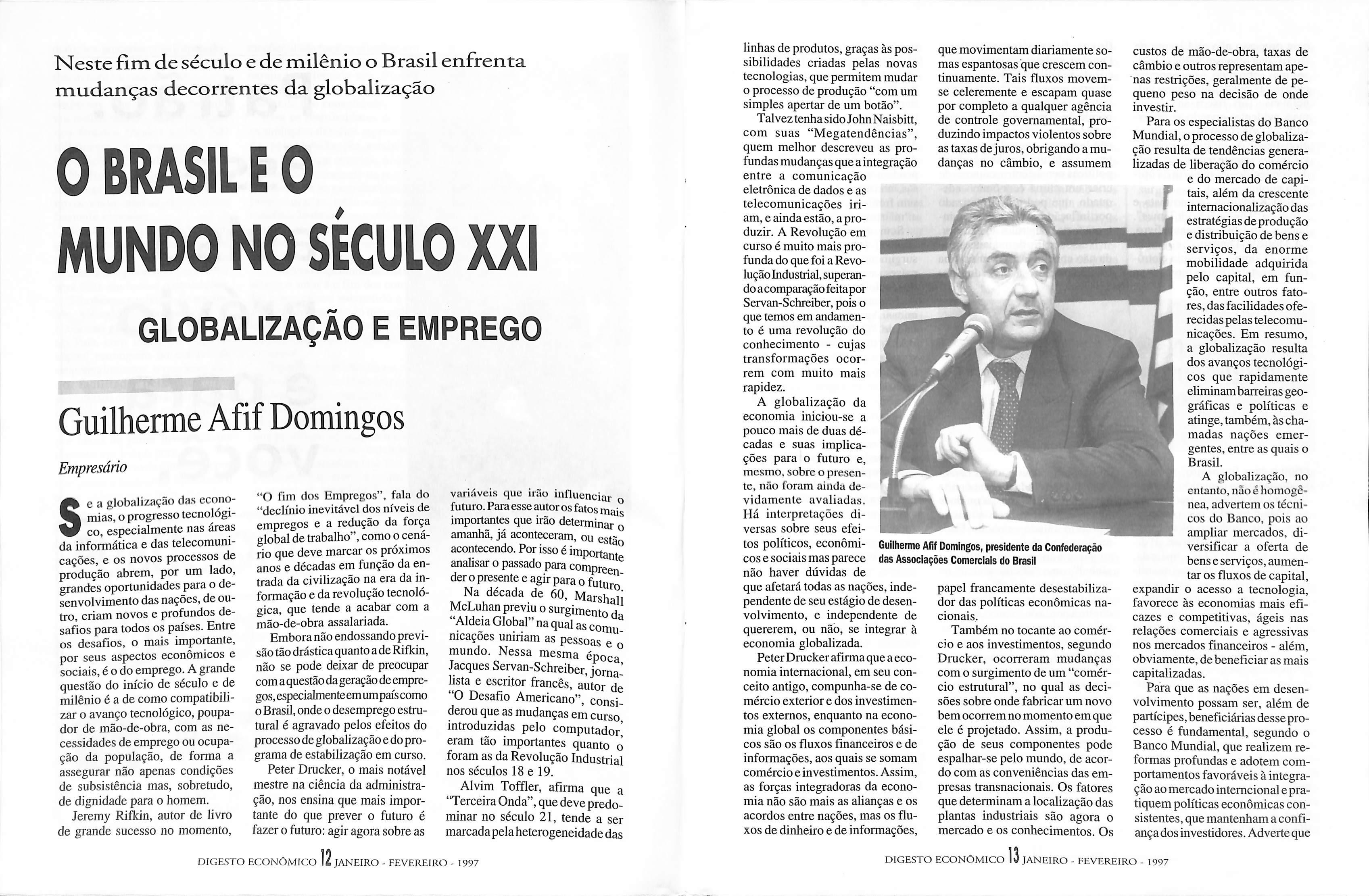
Guilherme Afif Domingos, presidente da Confederação das Associações Comerciais do Brasil
papel francamente desestabilizador das políticas econômicas na cionais.
custos de mão-de-obra, taxas de câmbio e outros representam ape nas restrições, geralmente de pe queno peso na decisão de onde investir.
Para os especialistas do Banco Mundial, o processo de globaliza ção resulta de tendências genera lizadas de liberação do comércio e do mercado de capi tais, além da crescente internacionalização das estratégias de produção e distribuição de bens e serviços, da enorme mobilidade adquirida pelo capital, em fun ção, entre outros fato res, das facilidades ofe recidas pelas telecomu nicações. Em resumo, a globalização resulta dos avanços tecnológi cos que rapidamente eliminam barreiras geo gráficas e políticas e atinge, também, às cha madas nações emer gentes, entre as quais o Brasil.
Peter Dioicker afirma que a eco nomia internacional, em seu con ceito antigo, compunha-se de co mércio exterior e dos investimen tos externos, enquanto na econo mia global os componentes bási cos são os fluxos financeiros e de informações, aos quais se somam comércio e investimentos. Assim, as forças integradoras da econo mia não são mais as alianças e os acordos entre nações, mas os flu xos de dinheiro e de informações.
Também no tocante ao comér cio e aos investimentos, segundo Drucker, ocorreram mudanças com o surgimento de um “comér cio estrutural”, no qual as deci sões sobre onde fabricar um novo bem ocorrem no momento em que ele é projetado. Assim, a produ ção de seus componentes pode espalhar-se pelo mundo, de acor do com as conveniências das em presas transnacionais. Os fatores que determinam a localização das plantas industriais são agora mercado e os conhecimentos. Os 0
A globalização, no eníunto, nào é homogê nea, advertem os técni cos dü Banco, pois ao ampliar mercados, di versificar a oferta de bens e serviços, aumen tar os fluxos de capital, expandir o acesso a tecnologia, favorece às economias mais efi cazes e competitivas, ágeis nas relações comerciais e agressivas nos mercados financeiros - além, obviamente, de beneficiar as mais capitalizadas.
Para que as nações em desen volvimento possam ser, além de partícipes, beneficiárias desse pro cesso é fundamental, segundo o Banco Mundial, que realizem re formas profundas e adotem com portamentos favoráveis à integra ção ao mercado intemcional e pra tiquem políticas econômicas con sistentes, que mantenham a confi ança dos investidores. Adveiteque
esse processo não está isento de riscos, que amaçam todos os paí ses mas sobretudo, às economias periféricas, por definição mais vul neráveis. Tais riscos se tomam mais evidentes quando se obser vam os movimentos do fluxo globalizado do capital especulati vo, relativamente recentes e ainda desconhecidos da maioria da opi nião pública.
Joel Kurtzman, economista e editor do “The New York Times”, lançou, em 1993, instigante üvro, “A Morte do Dinheiro”, cujo sub título, “Como a economia eletrô nica desestabilizou os mercados e
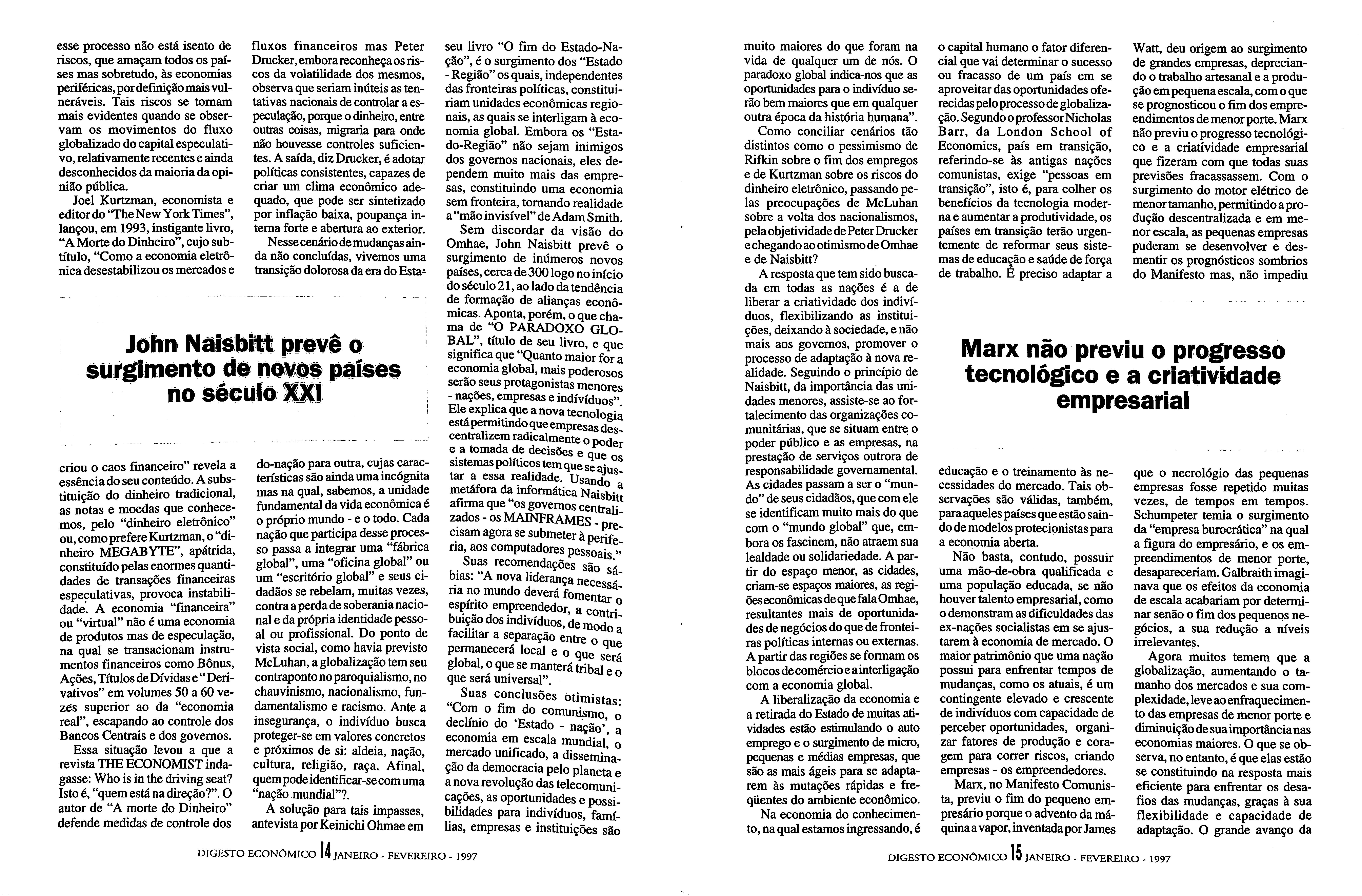
fluxos financeiros mas Peter Dmcker, embora reconheça os ris cos da volatiüdade dos mesmos, observa que seriam inúteis as ten tativas nacionais de controlar a es peculação, porque o dinheiro, entre outras coisas, migraria para onde não houvesse controles suficien tes. A saída, diz Dmcker, é adotar políticas consistentes, capazes de criar um cüma econômico ade quado, que pode ser sintetizado por inflação baixa, poupança in terna forte e abertura ao exterior. Nesse cenário de mudanças ain da não concluídas, vivemos uma transição dolorosa da era do Esta-
Jôíin NâiâbíM prevê o surgimento de neipi
países no século Ülj
criou o caos financeiro” revela a essência do seu conteúdo. A subs tituição do dinheiro tradicional, notas e moedas que conhece mos, pelo “dinheiro eletrônico” ou, como prefere Kurtzman, o “di nheiro MEGABYTE”, apátrída, constituído pelas enormes quanti dades de transações financeiras especulativas, provoca instabili dade. A economia “financeira” Virtual” não é uma economia de produtos mas de especulação, na qual se transacionam instru mentos financeiros como Bônus, Ações, Títulos de Dívidas e “Deri vativos” em volumes 50 a 60 vez6s superior ao da “economia real”, escapando ao controle dos Bancos Centrais e dos governos. Essa situação levou a que a revista THE ECONOMIST inda gasse: Who is in the driving seat? Isto é, “quem está na direção?”. O autor de “A morte do Dinheiro” defende medidas de controle dos as
do-nação para outra, cujas carac terísticas são ainda uma incógnita mas na qual, sabemos, a unidade fundamental da vida econômica é o próprio mundo - e o todo. Cada nação que participa desse proces so passa a integrar uma “fábrica global”, uma “oficina global” ou um “escritório global” e seus ci dadãos se rebelam, muitas vezes, contra a perda de soberania nacio nal e da própria identidade pesso al ou profissional. Do ponto de vista social, como havia previsto McLuhan, a globalização tem seu contraponto no paroquialismo, no chauvinismo, nacionalismo, fundamentafismo e racismo. Ante a insegurança, o indivíduo busca proteger-se em valores concretos e próximos de si: aldeia, nação, cultura, religião, raça. Afinal, quem pode identificar-se com uma “nação mundial”?.
seu üvro “O fim do Estado-Nação”, é o surgimento dos “Estado - Região” os quais, independentes das fronteiras políticas, constitui ríam unidades econômicas regio nais, as quais se interligam à eco nomia global. Embora os “Estado-Região” não sejam inimigos dos governos nacionais, eles de pendem muito mais das empre sas, constituindo uma economia sem fronteira, tomando realidade a “mão invisível” de Adam Smith. Sem discordar da visão do Omhae, John Naisbitt prevê o surgimento de inúmeros novos países, cerca de300 logo no imcio do século 21, ao lado da tendência de formação de afianças econô micas. Aponta, porém, o que cha ma de “O PARADOXO GLO BAL”, título de seu livro, e que significa que “Quanto maior for a economia global, mais poderosos serão seus protagonistas menores - nações, empresas e indivíduos” Ele explica que a nova tecnologia estápermitindoqueempresasdes centralizem radicalmente o poder e a tomada de decisões e que sistemas políticos tem que se aiuT tar a essa realidade. Usando metáfora da informática Naisbitt afirma que “os governos centrali zados - os MAINFRAMES - pre~ cisam agora se submeter à perife' ria, aos computadores pessoais '
Suas recomendações são sá bias: “A nova liderança necessá ● po mundo deverá fomentar n ^pinto empreendedor, a contri bmçao dos indivíduos, de modo ã facilitar a separação entre o oue permanecerá local e o que será global, o que se manterá tribal que será universal”.
ou eo otimistas: comunismo, o
A solução para tais impasses, antevista por Keinichi Ohmae em
Suas conclusões “Com o fim do declínio do ‘Estado - nação’, a economia em escala mundial’ o mercado unificado, a dissemina ção da democracia pelo planeta e a nova revolução das telecomuni cações, as oportunidades e possi bilidades para indivíduos, famí lias, empresas e instituições são
muito maiores do que foram na vida de qualquer um de nós. O paradoxo global indica-nos que as oportunidades para o indivíduo se rão bem maiores que em qualquer outra época da história humana”.
Como conciliar cenários tão distintos como o pessimismo de Rifkin sobre o fim dos empregos e de Kurtzman sobre os riscos do dinheiro eletrônico, passando pe las preocupações de McLuhan sobre a volta dos nacionahsmos, pela objetividade de Peter Dmcker e chegando ao otimismo de Omhae e de Naisbitt?
A resposta que tem sido busca da em todas as nações é a de hberar a criatividade dos indiví duos, flexibihzando as institui ções, deixando à sociedade, e não mais aos governos, promover o processo de adaptação à nova reaüdade. Seguindo o princípio de Naisbitt, da importância das uni dades menores, assiste-se ao for talecimento das organizações co munitárias, que se situam entre o poder público e as empresas, na prestação de serviços outrora de responsabihdade governamental. As cidades passam a ser o “mun do” de seus cidadãos, que com ele se identificam muito mais do que com o “mundo global” que, em bora os fascinem, não atraem sua lealdade ou solidariedade. A par tir do espaço menor, as cidades, criam-se espaços maiores, as regi ões econômicas de que fala Omhae, resultantes mais de oportunida des de negócios do que de frontei ras políticas internas ou externas. A partir das regiões se formam os blocos de comércio e a interligação com a economia global.
A hberahzação da economia e a retirada do Estado de muitas ati vidades estão estimulando o auto emprego e o surgimento de micro, pequenas e médias empresas, que são as mais ágeis para se adapta rem às mutações rápidas e freqüentes do ambiente econônúco.
Na economia do conhecimen to, na qual estamos ingressando, é
o capital humano o fator diferen cial que vai determinar o sucesso ou fracasso de um país em se aproveitar das oportunidades ofe recidas pelo processo de globaliza ção. Segundo o professor Nicholas Barr, da London School of Economics, país em transição, referindo-se às antigas nações comunistas, exige “pessoas em transição”, isto é, para colher os beneficios da tecnologia moder na e aumentar a produtividade, os países em transição terão urgen temente de reformar seus siste mas de educação e saúde de força de trabalho. E preciso adaptar a
Watt, deu origem ao surgimento de grandes empresas, deprecian do o trabalho artesanal e a produ ção em pequena escala, com o que se prognosticou o fim dos empre endimentos de menor porte. Marx não previu o progresso tecnológi co e a criatividade empresarial que fizeram com que todas suas previsões fracassassem. Com o surgimento do motor elétrico de menor tamanho, pennitindo a pro dução descentralizada e em me nor escala, as pequenas empresas puderam se desenvolver e des mentir os prognósticos sombrios do Manifesto mas, não impediu
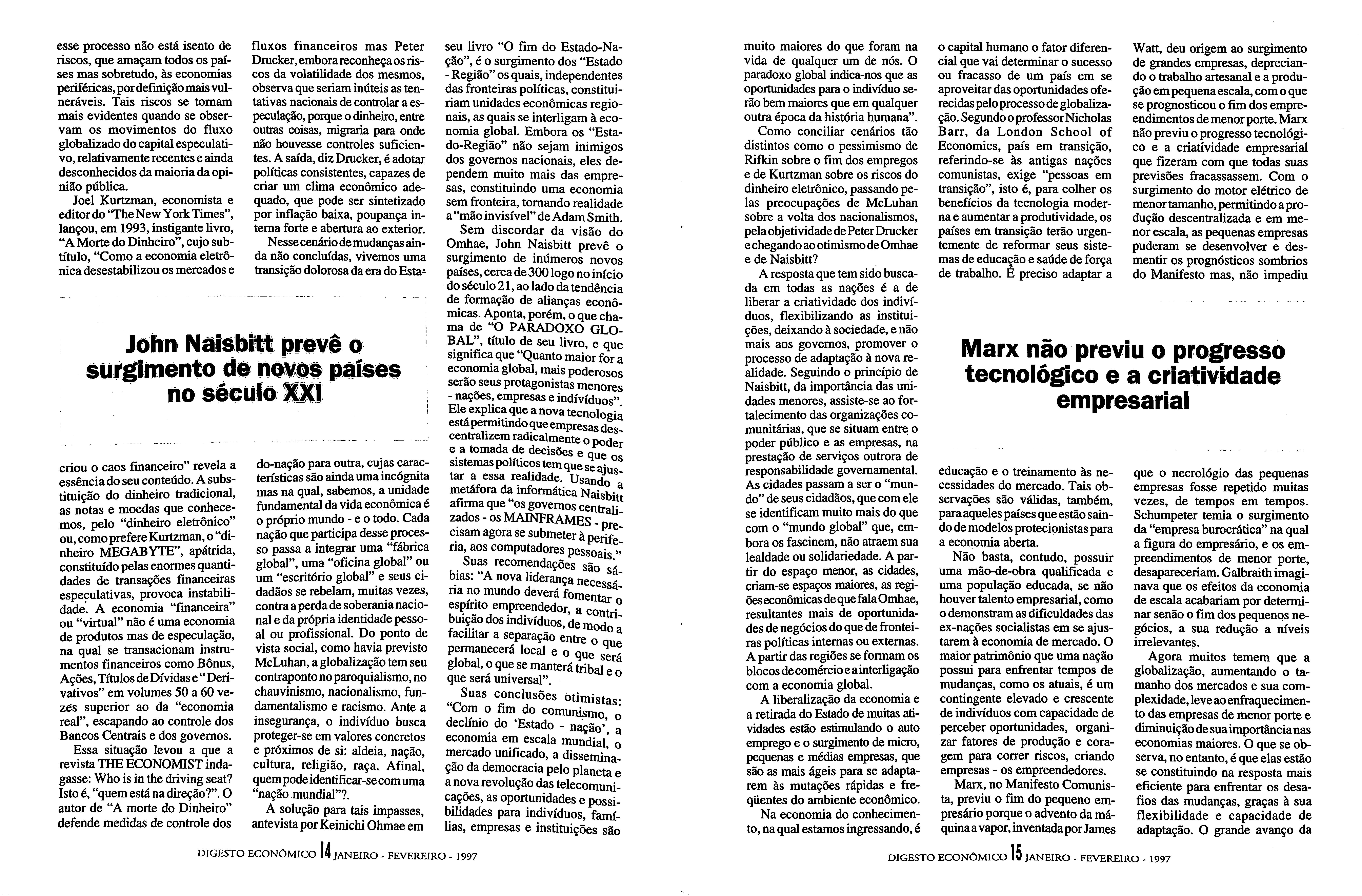
Marx não previu o progresso tecnológico e a criatividade
empresarial
educação e o treinamento às ne cessidades do mercado. Tais ob servações são válidas, também, para aqueles países que estão sain do de modelos protecionistas para a economia aberta.
Não basta, contudo, possuir uma mão-de-obra qualificada e uma população educada, se não houver talento empresarial, como o demonstram as dificuldades das ex-nações socialistas em se ajus tarem à economia de mercado. O maior patrimônio que uma nação possui para enfrentar tempos de mudanças, como os atuais, é um contingente elevado e crescente de indivíduos com capacidade de perceber oportunidades, organi zar fatores de produção e cora gem para correr riscos, criando empresas - os empreendedores.
Marx, no Manifesto Comunis ta, previu o fim do pequeno em presário porque o advento da má quina a vapor, inventada por James
que o necrológio das pequenas empresas fosse repetido muitas vezes, de tempos em tempos. Schumpeter tenúa o surgimento da “empresa burocrática” na qual a figura do empresário, e os em preendimentos de menor porte, desapareceríam. Galbraith imagi nava que os efeitos da econonúa de escala acabariam por determi nar senão o fim dos pequenos ne gócios, a sua redução a níveis irrelevantes.
Agora muitos temem que a globalização, aumentando o ta manho dos mercados e sua com plexidade, leve ao enfi'aquecimento das empresas de menor porte e diminuição de sua importância n£is econonúas maiores. O que se ob serva, no entanto, é que elas estão se constituindo na resposta mais eficiente para enfrentar os desa fios das mudanças, graças à sua flexibilidade e capacidade de adaptação. O grande avanço da
informática, que permite aos em preendimentos menores operarem com a mesma eficiência do que os grandes, e sua maior rapidez em atender aos novos hábitos dos consumidores, que buscam arti gos mais personalizados, deu aos empreendimentos menores, van tagens não previstas por aqueles que ignoram a importância do ta lento empresarial.
Ao responder às oportunidades decorrentes da globalização e do avanço tecnológico as micro e pequenas empresas vem oferecen do, também, uma resposta à ques tão do emprego e da ocupação.
O “enxugamento” do quadro de pessoal das empresas, resultante das modernas práticas de admi nistração, que levam as empresas a se concentrarem em suas ativi dades básicas, abrem campo para o surgimento de muitas empresas “tercerizadas” que vão oferecer suporte aos empreendimentos maiores.
Quanto à abertura, provocando transferência de empregos para o exterior em decorrência da im portação de produtos anteriormen te produzidos localmente, abre a oportunidade para o incremento das exportações, pois libera fato-
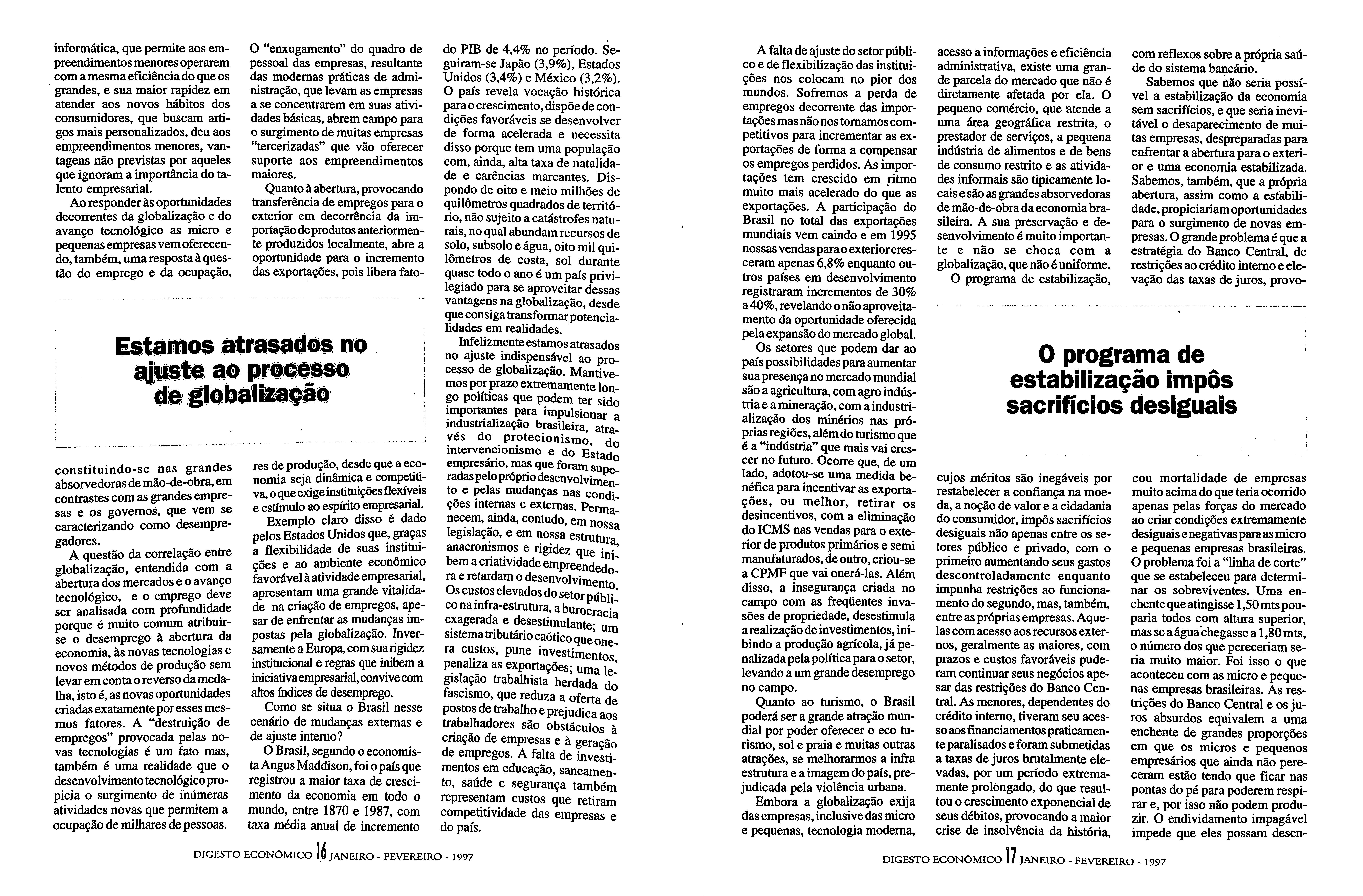
constituindo-se nas grandes absorvedoras de mão-de-obra, em contrastes com as grandes empre sas e os governos, que vem se caracterizando como desempregadores.
res de produção, desde que a eco nomia seja dinâmica e competiti va, o que exige instituições flexíveis e estúnulo ao espírito empresarial. Exemplo claro disso é dado pelos Estados Unidos que, graças a flexibilidade de suas institui ções e ao ambiente econômico favorável à atividade empresarial, apresentam uma grande vitalida-
A questão da correlação entre globalização, entendida abertura dos mercados e o avanço tecnológico, e o emprego deve _ . ^ ^ ser analisada com profundidade de na cnaçao de empregos, ape sar de enfrentar as mudanças im postas pela globalização. Inver samente a Europa, com sua rigidez institucional e regras que inibem a iniciativa empresarial, convive com
Como se situa o Brasil nesse cenário de mudanças externas e de ajuste interno?
do PIB de 4,4% no período. Se guiram-se Japão (3,9%), Estados Unidos (3,4%) e México {3,2%). O país revela vocação histórica para o crescimento, dispõe de con dições favoráveis se desenvolver de forma acelerada e necessita disso porque tem uma população com, ainda, alta taxa de natalida de e carências marcantes. Dis pondo de oito e meio milhões de quilômetros quadrados de territó rio, não sujeito a catástrofes natu rais, no qual abundam recursos de solo, subsolo e água, oito mil qui lômetros de costa, sol durante quase todo o ano é um país privi legiado para se aproveitar dessas vantagens na globalização, desde que consiga transformar potencia lidades em realidades.
Infelizmente estamos atrasados no ajuste indispensável ao pro cesso de globalização. Mantive mos por prazo extremamente lon go pohtícas que podem ter sido importantes para impulsionar a industrialização brasileira vés do protecionismo,intervencionismo e do Estado empresário, mas que foram supe° radas peloprópriodesenvolvimen to e pelas mudanças nas condi ções internas e externas. Perma necem, ainda, contudo, em nossa legislação, e em nossa estrutura anacronismos e rigidez que ini’ bem a criatividade
atrado
com a ra racia porque é muito comum atribuir- desemprego à abertura da economia, às novas tecnologias e novos métodos de produção sem levar em conta o reverso da meda lha, isto é, as novas oportunidades altos índices de desemprego, criadas exatamente por esses mes mos fatores. A “destruição de empregos” provocada pelas no vas tecnologias é um fato mas, também é uma realidade que o desenvolvimento tecnológico pro picia o surgimento de inúmeras atividades novas que permitem a ocupação de milhares de pessoas. se o
O Brasil, segundo o economis ta Angus Maddison, foi o país que registrou a maior taxa de cresci mento da economia em todo o mundo, entre 1870 e 1987, com taxa média anual de incremento
empreendedo- e retardam o desenvolvimento Os custos elevados do setor públi CO na infra-estrutura, a buroc exagerada e desestimulante* um sistema tributáriocaóticoqueone ra custos, pune investimentos penaliza as exportações; uma le’ gislação trabalhista herdada do fascismo, que reduza a oferta de postos de trabalho e prejudica aos trabalhadores são obstáculos à criação de empresas e à geração de empregos. A falta de investi mentos em educação, saneamen to, saúde e segurança também representam custos que retiram competitividade das empresas e do país.
A falta de ajuste do setor públi co e de flexibilização das institui ções nos colocam no pior dos mundos. Sofremos a perda de empregos decorrente das impor tações mas não nos tomamos com petitivos para incrementar as ex portações de forma a compensar os empregos perdidos. As impor tações tem crescido em ritmo muito mais acelerado do que as exportações. A participação do Brasil no total das exportações mundiais vem caindo e em 1995 nossas vendas para o exterior cres ceram apenas 6,8% enquanto ou tros países em desenvolvimento registraram incrementos de 30% a 40%, revelando o não aproveita mento da oportunidade oferecida pela expansão do mercado global. Os setores que podem dar ao país possibilidades para aumentar sua presença no mercado mundial são a agricultura, com agro indús tria e a mineração, com a industri alização dos minérios nas pró prias regiões, além do turismo que é a “industria” que mais vai cres cer no futuro. Ocorre que, de lado, adotou-se uma medida be néfica para incentivar as exportações, ou melhor, retirar desincentivos, com a eliminação do ICMS nas vendas para o exte rior de produtos primários e semi manufaturados, de outro, criou-se a CPMF que vai onerá-las. Além disso, a insegurança criada no campo com as ffeqüentes inva sões de propriedade, desestimula a realização de investimentos, ini bindo a produção agrícola, já pe nalizada pela política para o setor, levando a um grande desemprego no campo. Quanto ao turismo, o Brasil poderá ser a grande atração mun dial por poder oferecer o eco tu rismo, sol e praia e muitas outras atrações, se melhorarmos a infra estrutura e a imagem do país, pre judicada pela violência urbana. Embora a globalização exija das empresas, inclusive das micro e pequenas, tecnologia moderna.
acesso a informações e eficiência administrativa, existe uma gran de parcela do mercado que não é diretamente afetada por ela. O pequeno comércio, que atende a uma área geográfica restrita, o prestador de serviços, a pequena indústria de alimentos e de bens de consumo restrito e as ativida des informais são tipicamente lo cais e são as grandes absorvedoras de mão-de-obra da economia bra sileira. A sua preservação e de senvolvimento é muito importan te e não se choca com a globalização, que não é uniforme. O programa de estabilização.
com reflexos sobre a própria saú de do sistema bancário.
Sabemos que não seria possí vel a estabilização da economia sem sacrifícios, e que seria inevi tável o desaparecimento de mui tas empresas, despreparadas para enfrentar a abertura para o exteri or e uma economia estabilizada. Sabemos, também, que a própria abertura, assim como a estabili dade, propiciariam oportunidades para o surgimento de novas em presas. O grande problema é que a estratégia do Banco Central, de restrições ao crédito interno e ele vação das taxas de juros, provo-
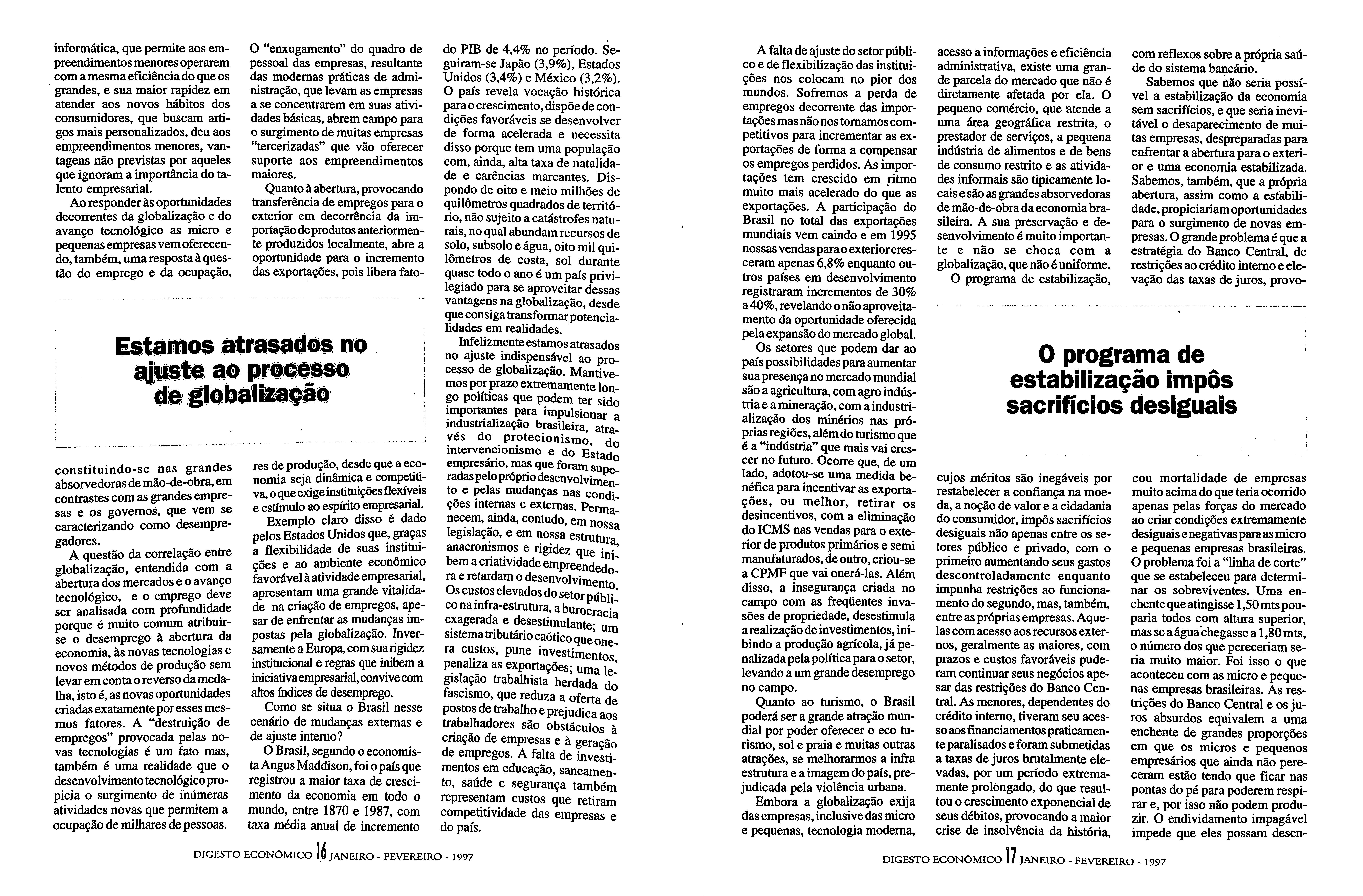
O programa de estabilização impôs sacrifícios desiguais
cujos méritos são inegáveis por restabelecer a confiança na moe da, a noção de valor e a cidadania do consumidor, impôs sacrifícios desiguais não apenas entre os se tores público e privado, com o primeiro aumentando seus gastos descontroladamente enquanto impunha restrições ao funciona mento do segundo, mas, também, entre as próprias empresas. Aque las com acesso aos recursos exter nos, geralmente as maiores, com prazos e custos favoráveis pude ram continuar seus negócios ape sar das restrições do Banco Cen tral. As menores, dependentes do crédito interno, tiveram seu aces so aos financiamentos praticamen te paralisados e foram submetidas a taxas de juros brutalmente ele vadas, por um período extrema mente prolongado, do que resul tou o crescimento exponencial de seus débitos, provocando a maior crise de insolvência da história.
cou mortalidade de empresas muito acima do que teria ocorrido apenas pelas forças do mercado ao criar condições extremamente desiguais e negativas para as micro e pequenas empresas brasileiras. O problema foi a “linha de corte” que se estabeleceu para determi nar os sobreviventes. Uma en chente que atingisse 1,50 mts pou paria todos com altura superior, mas se a água chegasse a 1,80 mts, o número dos que pereceríam se ria muito maior. Foi isso o que aconteceu com as micro e peque nas empresas brasileiras. As res trições do Banco Central e os ju ros absurdos equivalem a uma enchente de grandes proporções em que os micros e pequenos empresários que ainda não pere ceram estão tendo que ficar nas pontas do pé para poderem respi rar e, por isso não podem produ zir. O endividamento impagável impede que eles possam desen-
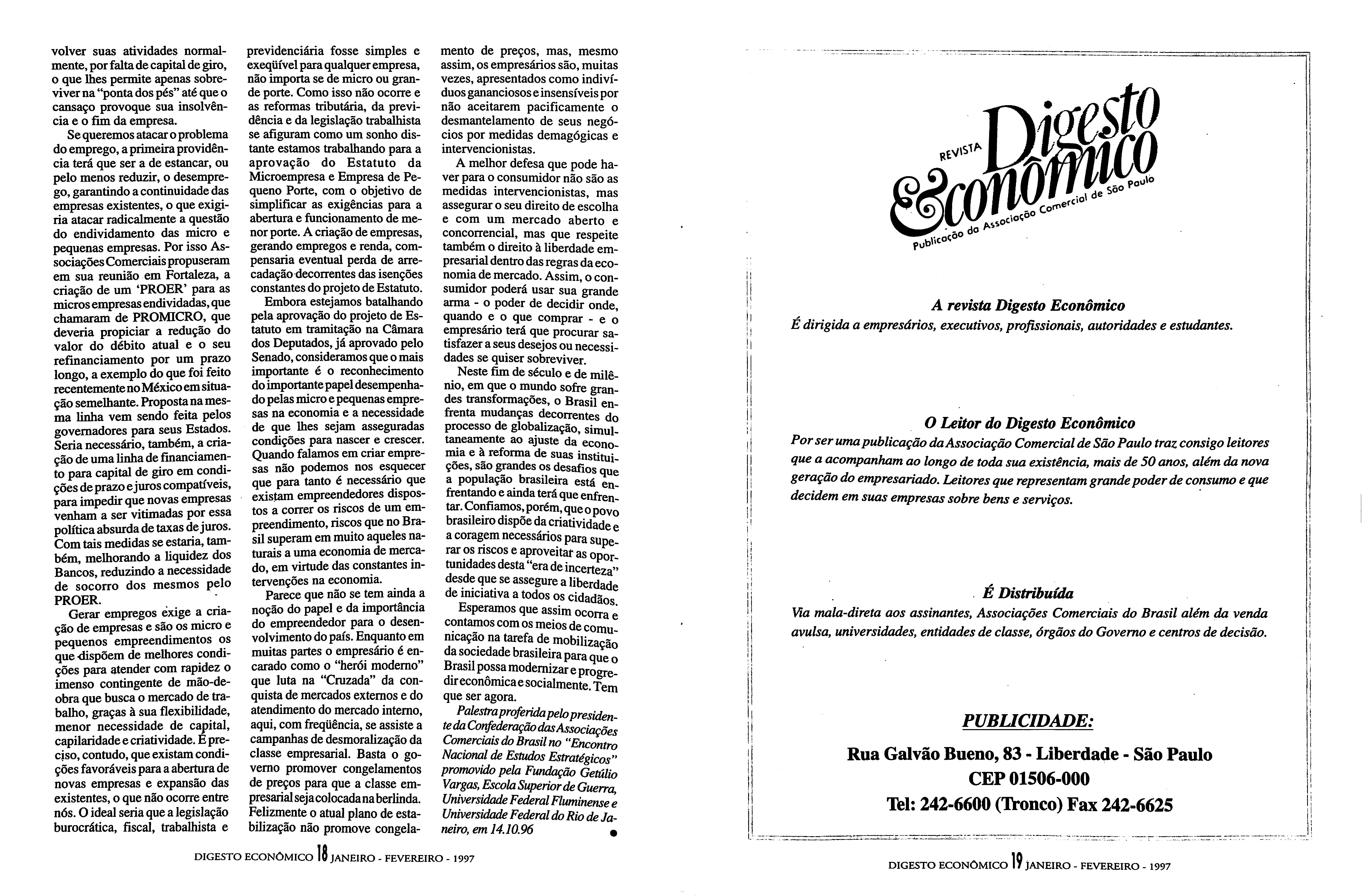
volver suas atividades normal mente, por falta de capital de giro, o que lhes permite apenas sobre viver na “ponta dos pés” até que o cansaço provoque sua insolvência e o fim da empresa.
Se queremos atacar o problema do emprego, a primeira providên cia terá que ser a de estancar, ou pelo menos reduzir, o desempre go, garantindo a continuidade das empresas existentes, o que exigi ría atacar radicalmente a questão do endividamento das micro e pequenas empresas. Por isso As sociações Comerciais propuseram em sua reunião em Fortaleza, a criação de um ‘PROER’ para as micros empresas endividadas, que chamaram de PROMICRO, que deveria propiciar a redução do valor do débito atual e o seu refinanciamento por um prazo longo, a exemplo do que foi feito recentemente no México em situa ção semelhante. Proposta na mes ma linha vem sendo feita pelos governadores para seus Estados. Seria necessário, também, a cria ção de uma linha de financiamen to para capital de giro em condi ções de prazo e juros compatíveis, para impedir que novas empresas venham a ser vitimadas por essa política absurda de taxas de juros. Com tais medidas se estana, tam bém, melhorando a liquidez dos Bancos, reduzindo a necessidade de socorro dos mesmos pelo PROER.
Gerar empregos exige a cria ção de empresas e são os micro e pequenos empreendimentos os que -dispõem de melhores condi ções para atender com rapidez o imenso contingente de mão-deobra que busca o mercado de tra balho, graças à sua flexibilidade, menor necessidade de capital, capilaridade e criatividade. E pre ciso, contudo, que existam condi ções favoráveis para a abertura de novas empresas e expansão das existentes, o que não ocorre entre nós. O ideal seria que a legislação burocrática, fiscal, trabalhista e
previdenciária fosse simples e exeqüível para qualquer empresa, não importa se de micro ou gran de porte. Como isso não ocorre e as reformas tributária, da previ dência e da legislação trabalhista se afiguram como um sonho dis tante estamos trabalhando para a aprovação do Estatuto da Microempresa e Empresa de Pe queno Porte, com o objetivo de simplificar as exigências para a abertura e funcionamento de me nor porte. A criação de empresas, gerando empregos e renda, com pensaria eventual perda de arre cadação decorrentes das isenções constantes do projeto de Estatuto.
Embora estejamos batalhando pela aprovação do projeto de Es tatuto em tramitação na Câmara dos Deputados, já aprovado pelo Senado, consideramos que o mais importante é o reconhecimento do importante papel desempenha do pelas micro e pequenas empre sas na economia e a necessidade de que lhes sejam asseguradas condições para nascer e crescer. Quando falamos em criar empre sas não podemos nos esquecer que para tanto é necessário que existam empreendedores dispos tos a correr os irscos de um em preendimento, irscos que no Bra sil superam em muito aqueles na turais a uma economia de merca do, em virtude das constantes in tervenções na economia.
Parece que não se tem ainda a noção do papel e da importância do empreendedor para o desen volvimento do país. Enquanto em muitas partes o empresário é en carado como o “herói moderno” que luta na “Cruzada” da con quista de mercados externos e do atendimento do mercado interno, aqui, com freqüência, se assiste a campanhas de desmoralização da classe empresarial. Basta o go verno promover congelamentos de preços para que a classe em presarial seja colocada na berlinda. Felizmente o atual plano de esta bilização não promove congela-
mento de preços, mas, mesmo assim, os empresários são, muitas vezes, apresentados como indiví duos gananciosos e insensíveis por não aceitarem pacifícamente o desmantelamento de seus negó cios por medidas demagógicas e intervencionistas.
A melhor defesa que pode ha ver para o consumidor não são as medidas intervencionistas, assegurar o seu direito de escolha e com um mercado aberto e concorrencial, mas que respeite também o direito à liberdade em presarial dentro das regras da eco nomia de mercado. Assim, o con sumidor poderá usar sua grande arma - o poder de decidir onde, quando e o que comprarempresário terá que procurar tisfazer a seus desejos ou necessi dades se quiser sobreviver.
Neste fim de século e de milê nio, em que o mundo sofre gran des transformações, o Brasil en frenta mudanças decorrentes do processo de globaüzação, simul taneamente ao ajuste da econo mia e à reforma de suas institui ções, são grandes os desafios a população brasileira está en frentando e ainda terá que enfren tar. Confiamos, porém, que o povo brasileiro dispõe da criatividade e a coragem necessários para supe rar os irscos e aproveitar as opor' tunidades desta “era de incerteza” desde que se assegure a liberdade de iniciativa a todos Esperamos que assim
mas e o saque os cidadãos. ^ ocorra e contamos com os meios de comu nicação na tarefa de mobilização da sociedade brasileira para que o Brasil possa modernizar e progre dir econômica e socialmente. Tem que ser agora.
Palestraproferida pelo presiden te da Confederação das Associações Comerciais do Brasil no 'Encontro Nacional de Estudos Estratégicos"" promovido pela Fundação Getúlio Vargas, Escola Superior de Guerra, Universidade Federal Fluminense e Universidade Federal do Rio de Ja neiro, em 14.10.96
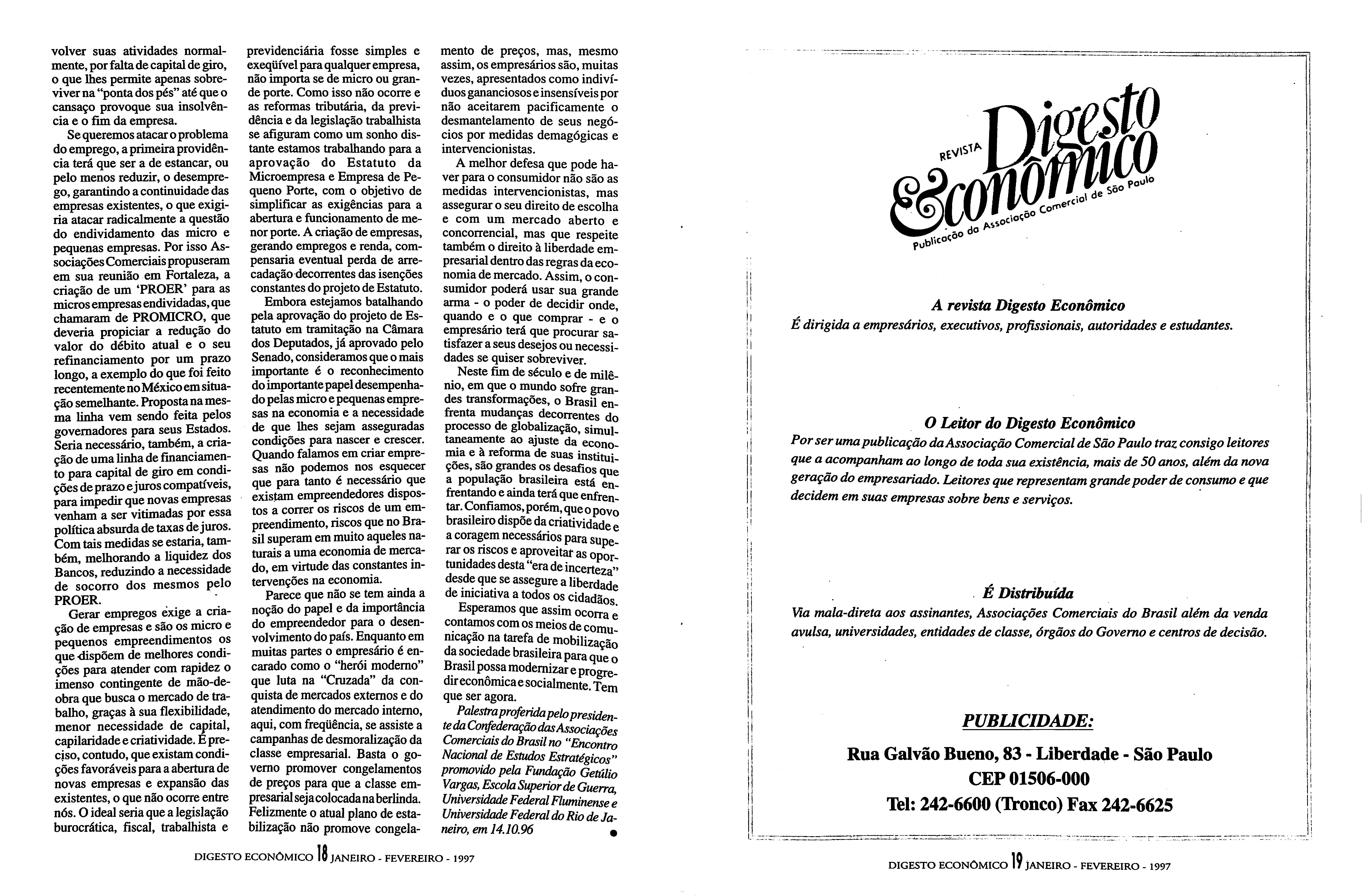
A revista Digesto Econômico
E dirigida a empresários^ executivos, profissionais, autoridades e estudantes.
O Leitor do Digesto Econômico
Por ser uma publicação da Associação Comercial de São Paulo traz consigo leitores que a acompanham ao longo de toda sua existência, mais de 50 anos, além da nova geração do empresariado. Leitores que representam grande poder de consumo e que decidem em suas empresas sobre bens e serviços.
É Distribuída
Via mala-direta aos assinantes. Associações Comerciais do Brasil além da venda avulsa, universidades, entidades de classe, órgãos do Governo e centros de decisão.
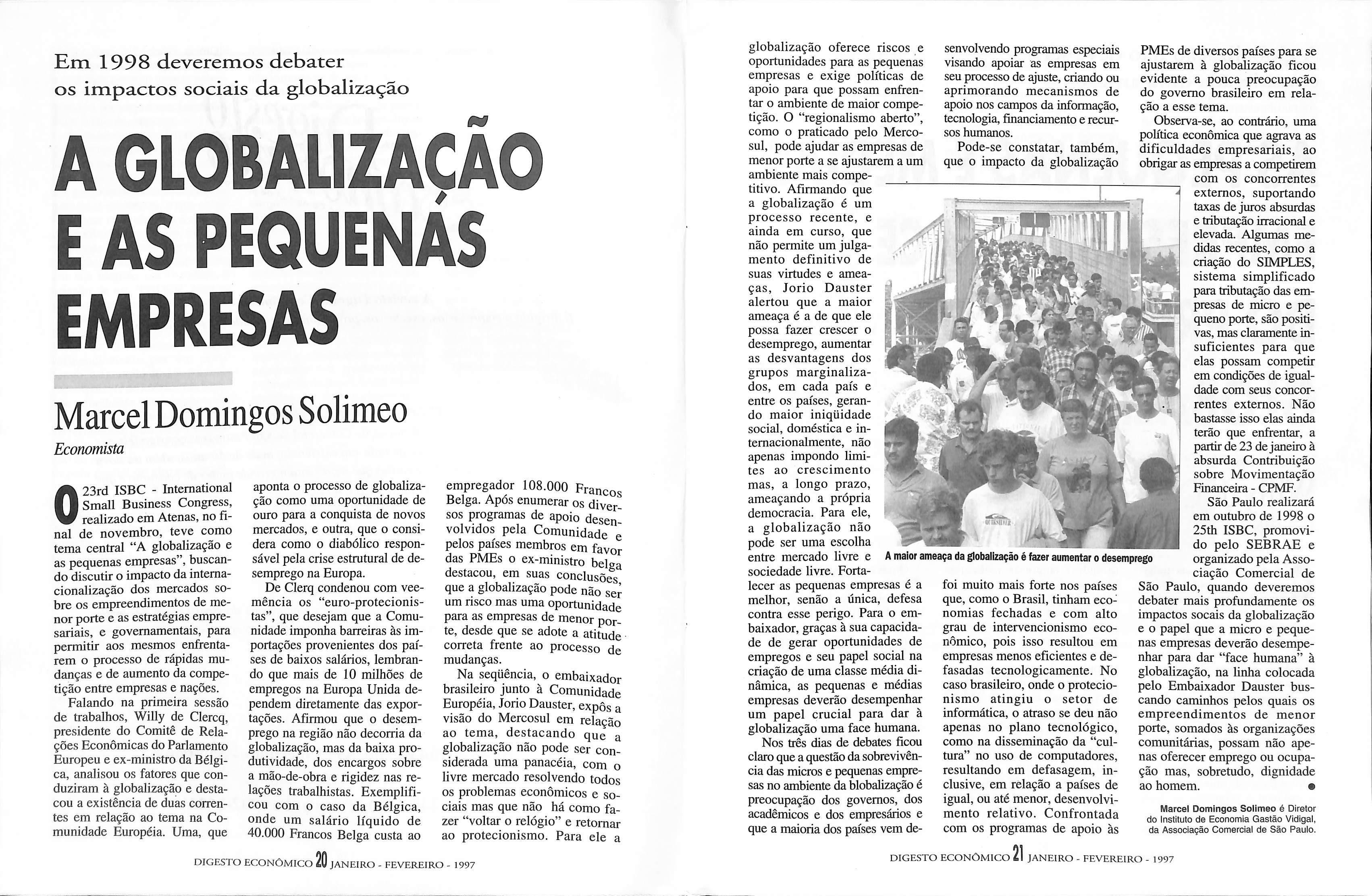
Em 1998 deveremos debater os impactos sociais da globalização
A GLOBALIZÂC E AS PEQUENÁS EMPRESAS
Marcei Domingos Solimeo
Economista
23rd ISBC - International
Small Business Congress, realizado em Atenas, no fi nal de novembro, teve como tema central “A globalização e as pequenas empresas buscan do discutir o impacto da interna cionalização dos mercados bre os empreendimentos de me nor porte e as estratégias empre sariais, e governamentais, para permitir aos mesmos enfrenta rem o processo de rápidas mu danças e de aumento da compe tição entre empresas e nações. Falando na primeira sessão de trabalhos, Willy de Clercq, presidente do Comitê de Rela ções Econômicas do Parlamento Europeu e ex-ministro da Bélgi ca, analisou os fatores que con duziram à globalização e desta cou a existência de duas corren tes em relação ao tema na Co munidade Européia. Uma, que
aponta o processo de globaliza ção como uma oportunidade de ouro para a conquista de novos mercados, e outra, que o consi dera como 0 diabólico respon sável pela crise estrutural de de semprego na Europa.
so-
De Clerq condenou com vee mência os “euro-protecionistas”, que desejam que a Comu nidade imponha barreiras às im portações provenientes dos paí ses de baixos salários, lembran do que mais de 10 milhões de empregos na Europa Unida de pendem diretamente das expor tações. Afirmou que o desem prego na região não decorria da globalização, mas da baixa pro dutividade, dos encargos sobre a mão-de-obra e irgidez nas re lações trabalhistas. Exemplifi cou
com 0 caso da Bélgica,
onde um salário líquido de 40.000 Francos Belga custa ao
sos
empregador 108.000 Francos Belga. Após enumerar os diver programas de apoio desen volvidos pela Comunidade e pelos países membros em favor das PMEs o ex-ministro belga destacou, em suas conclusões que a globalização pode não ser um risco mas uma oportunidade para as empresas de menor
te, desde que se adote a atitude correta frente ao processo de mudanças.
Na seqüência, o embaixador brasileiro junto à Comunidade Européia, Jorio Dauster, expôs visão do Mercosul em relação ao tema, destacandoglobalização não pode ser siderada uma panacéia, livre mercado resolvendo todos os problemas econômicos e so ciais mas que não há como fa zer “voltar o relógio” e retomar ao protecionismo. Para ele a a que a concom 0
globalização oferece riscos e oportunidades para as pequenas empresas e exige políticas de apoio para que possam enfren tar o ambiente de maior compe tição. O “regionalismo aberto”, como o praticado pelo Mercosul, pode ajudar as empresas de menor porte a se ajustarem a um ambiente mais compe titivo. Afirmando que a globalização é um processo recente, e ainda em curso, que não permite um julga mento definitivo de suas virtudes e amea ças, Jorio Dauster alertou que a maior ameaça é a de que ele possa fazer crescer o desemprego, aumentar as desvantagens dos grupos marginaliza dos, em cada país e entre os países, geran do maior iniqüidade social, doméstica e intemacionalmente, não apenas impondo limi tes ao crescimento mas, a longo prazo, ameaçando a própria democracia. Para ele, a globalização não pode ser uma escolha entre mercado livre e A maior ameaça
sociedade livre. Forta lecer as pequenas empresas é a melhor, senão a única, defesa contra esse perigo. Para o em baixador, graças à sua capacida de de gerar oportunidades de empregos e seu papel social na criação de uma classe média di nâmica, as pequenas e médias empresas deverão desempenhar um papel crucial para dar à globalização uma face humana. Nos três dias de debates ficou claro que a questão da sobrevivên cia das micros e pequenas empre sas no ambiente da blobalização é preocupação dos governos, dos acadêmicos e dos empresários e que a maioria dos países vem de¬
senvolvendo programas especiais visando apoiar as empresas em seu processo de ajuste, criando ou aprimorando mecanismos de apoio nos campos da informação, tecnologia, financiamento e recur sos humanos.
Pode-se constatar, também, que o impacto da globalização
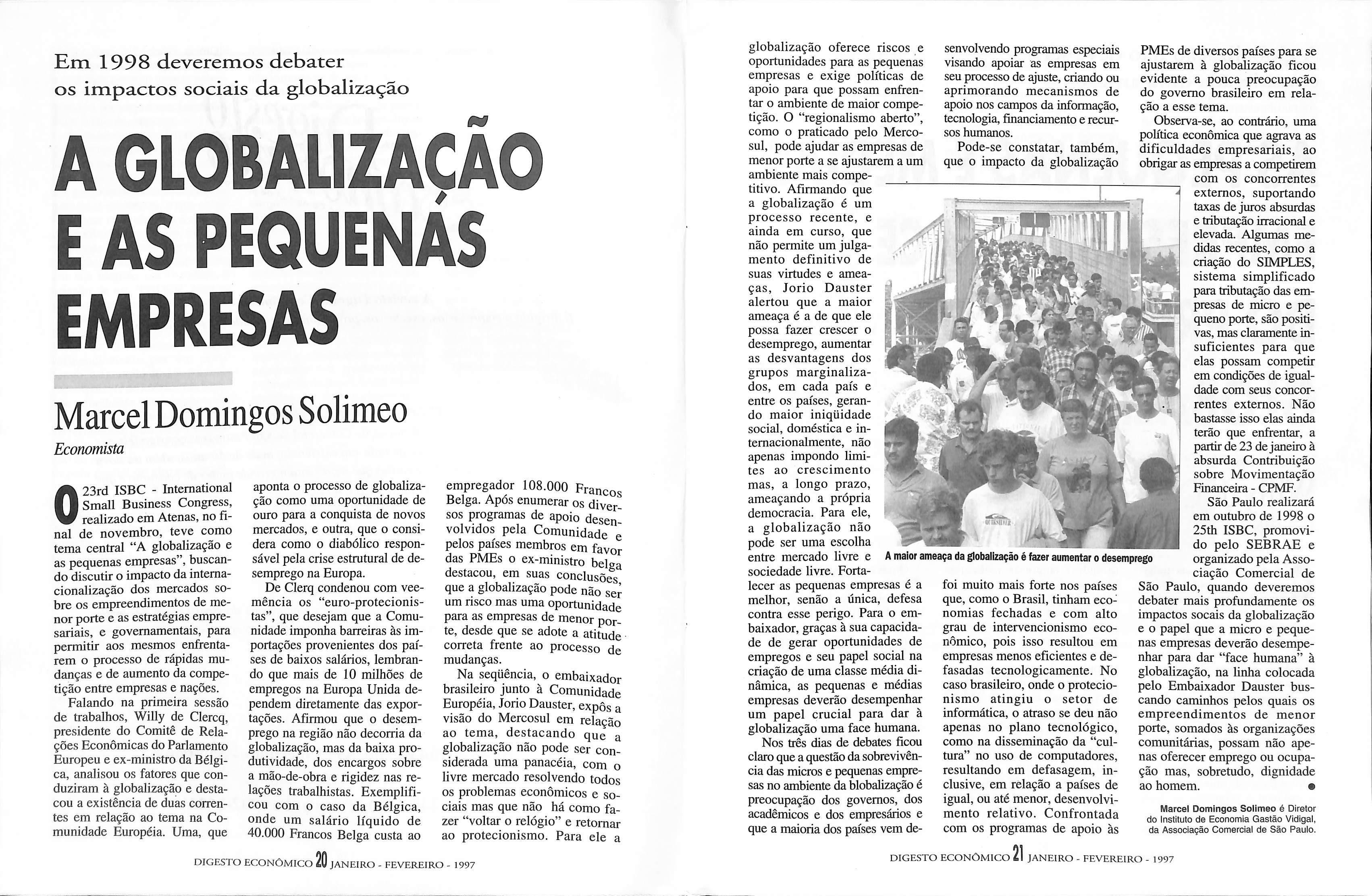
foi muito mais forte nos países que, como o Brasil, tinham eco nomias fechadas e com alto grau de intervencionismo eco nômico, pois isso resultou em empresas menos eficientes e de fasadas tecnologicamente. No caso brasileiro, onde o protecio nismo atingiu o setor de informática, o atraso se deu não apenas no plano tecnológico, como na disseminação da “cul tura” no uso de computadores, resultando em defasagem, in clusive, em relação a países de igual, ou até menor, desenvolvi mento relativo. Confrontada com os programas de apoio às
PMEs de diversos países para se ajustarem à globalização ficou evidente a pouca preocupação do governo brasileiro em rela ção a esse tema.
Observa-se, ao contrário, uma pohtica econômica que agrava as dificuldades empresariais, ao obrigar as empresas a competirem com os concorrentes externos, suportando taxas de juros absurdas e tributação irracional e elevada. Algumas me didas recentes, como a criação do SIMPLES, sistema simplificado para tributação das em presas de micro e pe queno porte, são positi vas, mas claramente in suficientes para que elas possam competir em condições de igual dade com seus concor rentes externos. Não bastasse isso elas ainda terão que enfrentar, a partir de 23 de janeiro à absurda Contribuição sobre Movimentação Financeira - CPMF.
São Paulo realizará em outubro de 1998 o 25th ISBC, promovi do pelo SEBRAE e organizado pela Asso ciação Comercial de São Paulo, quando deveremos debater mais profundamente os impactos socais da globalização e o papel que a micro e peque nas empresas deverão desempe nhar para dar “face humana” à globalização, na linha colocada pelo Embaixador Dauster bus cando caminhos pelos quais os empreendimentos de menor porte, somados às organizações comunitárias, possam não ape nas oferecer emprego ou ocupa ção mas, sobretudo, dignidade ao homem. ●
da globalização é fazer aumentar o desemprego
Marcei Domingos Solimeo é Diretor do Instituto de Economia Gastão Vidigal, da Associação Comercial de São Paulo.
A globalização não deve ser considerada uma ameaça
AS PEQUENAS E EMPRESAS EM FAC DO PROCESSO DE GLOBALIZAÇÃO
Willy de Clerco
Ministro belga
Globalização e liberação tomapalavras-chave dos anos 90. Entretanto, em vários discussão sobre a globali-
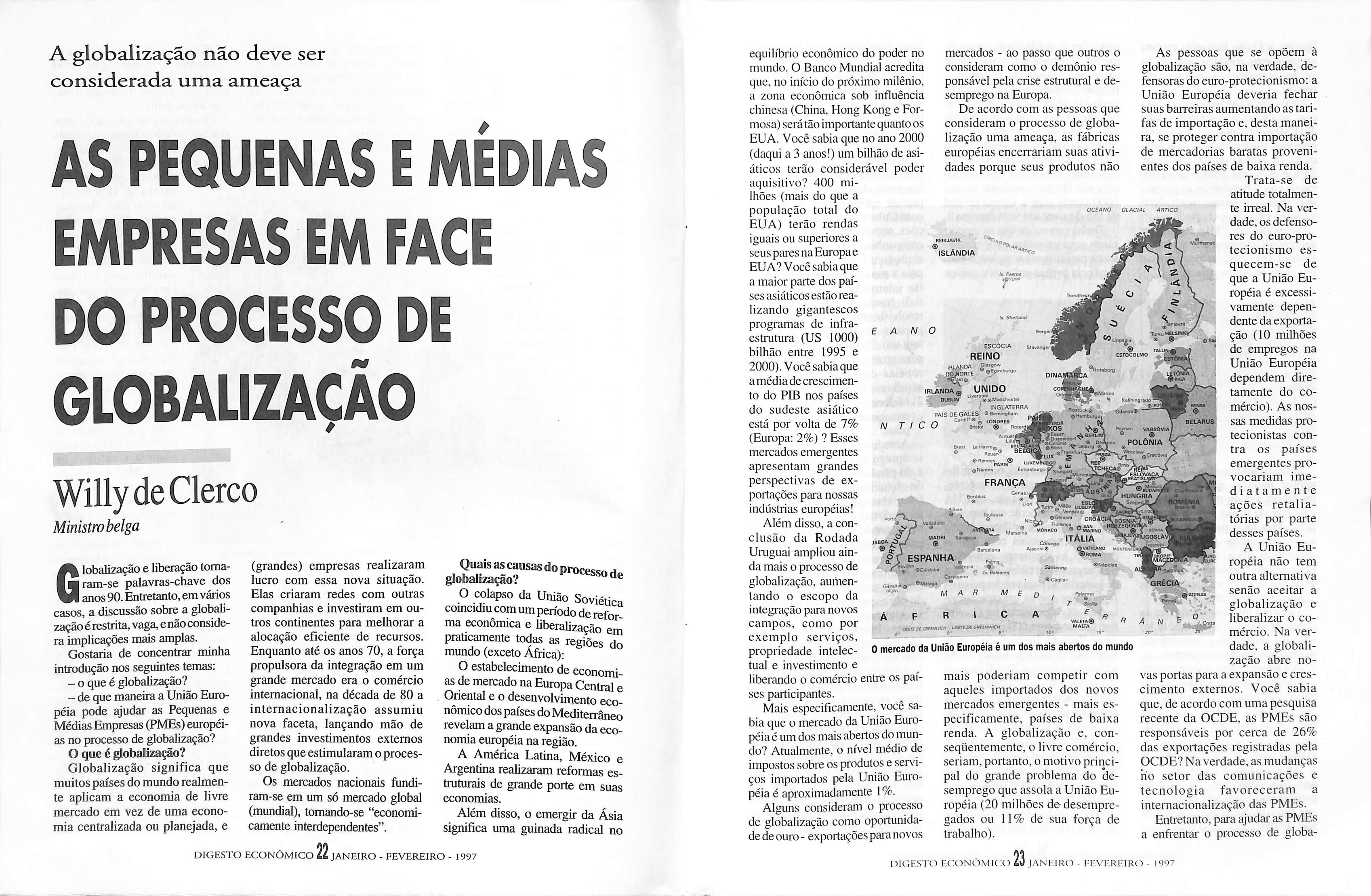
Quais as causas do proc globalização?
^so de ram-se casos, a zação é restrita, vaga, e não consideimplicações mais amplas.
Gostaria de concentrar minha introdução nos seguintes temas: que é globalização?
- de que maneira a União Euro péia pode ajudar as Pequenas e Médias Empresas (PMEs) européi as no processo de globalização?
O que é globalização?
Globalização significa que muitos países do mundo realmen te aplicam a economia de livre mercado em vez de uma econo-
(grandes) empresas realizaram lucro com essa nova situação. Elas criaram redes com outras companhias e investiram em ou tros continentes para melhorar a alocação eficiente de recursos. Enquanto até os anos 70, a força propulsora da integração em um grande mercado era o comércio internacional, na década de 80 a internacionalização assumiu nova faceta, lançando mão de grandes investimentos externos diretos que estimularam o proces so de globalização.
.0 colapso da União Soviética coincidiu com um período de refor ma econômica e liberalização praticamente todas mundo (exceto Áífica):
em as regiões do ra
O estabelecimento de
j , economi¬ as de mercado na Europa Central e Oriental e o desenvolvimento nômico dos países do Mediterrii revelam a grande expansão da nomia européia na região.
A América Latina, México e Argentina realizaram reformas truturais de grande porte em -o ecoeo ecoessuas economias.
Além disso, o emergir da Ásia significa uma guinada radical mia centralizada ou planejada, e no
Os mercados nacionais fundi ram-se em um só mercado global (mundial), tomando-se “economi camente interdependentes”. ECONÔMICO
equilíbrio econômico do poder no mundo. O Banco Mundial acredita que, no início do próximo milênio, a zona econômica sob influência chinesa (China, Hong Kong e For mosa) será tão importante quanto os EUA. Você sabia que no ano 2000 (daqui a 3 anos!) um bilhão de asi áticos terão considerável poder aquisitivo? 400 mi lhões (mais do que a população total do EUA) terão rendas iguais ou superiores a seus píues na Europa e EUA? Você sabia que a maior paite dos paí ses asiáticos estão rea lizando gigantescos programas de infraestrutura (US 1000) bilhão entre 1995 e 2000). Você sabia que a média de crescimen to do PIB nos países do sudeste asiático está por volta de 7% (Europa: 2%) ? Esses mercados emergentes apresentam grandes perspectivas de ex portações para nossas indústrias européias!
Além disso, a con clusão da Rodada Umguai ampliou ain da mais 0 processo de globalização, auiiientando 0 escopo da integração pai'a novos campos, como por exemplo serviços, propriedade intelec tual e investimento e liberando o comércio enti'e os paí ses paiticipantes.
mercados - ao passo que outi'Os o consideram como o demônio res ponsável pela crise estrutural e de semprego na Europa.
De acordo com as pessoas que consideram o processo de globa lização uma ameaça, as fábricas européias enceirariam suas ativi dades porque seus produtos não
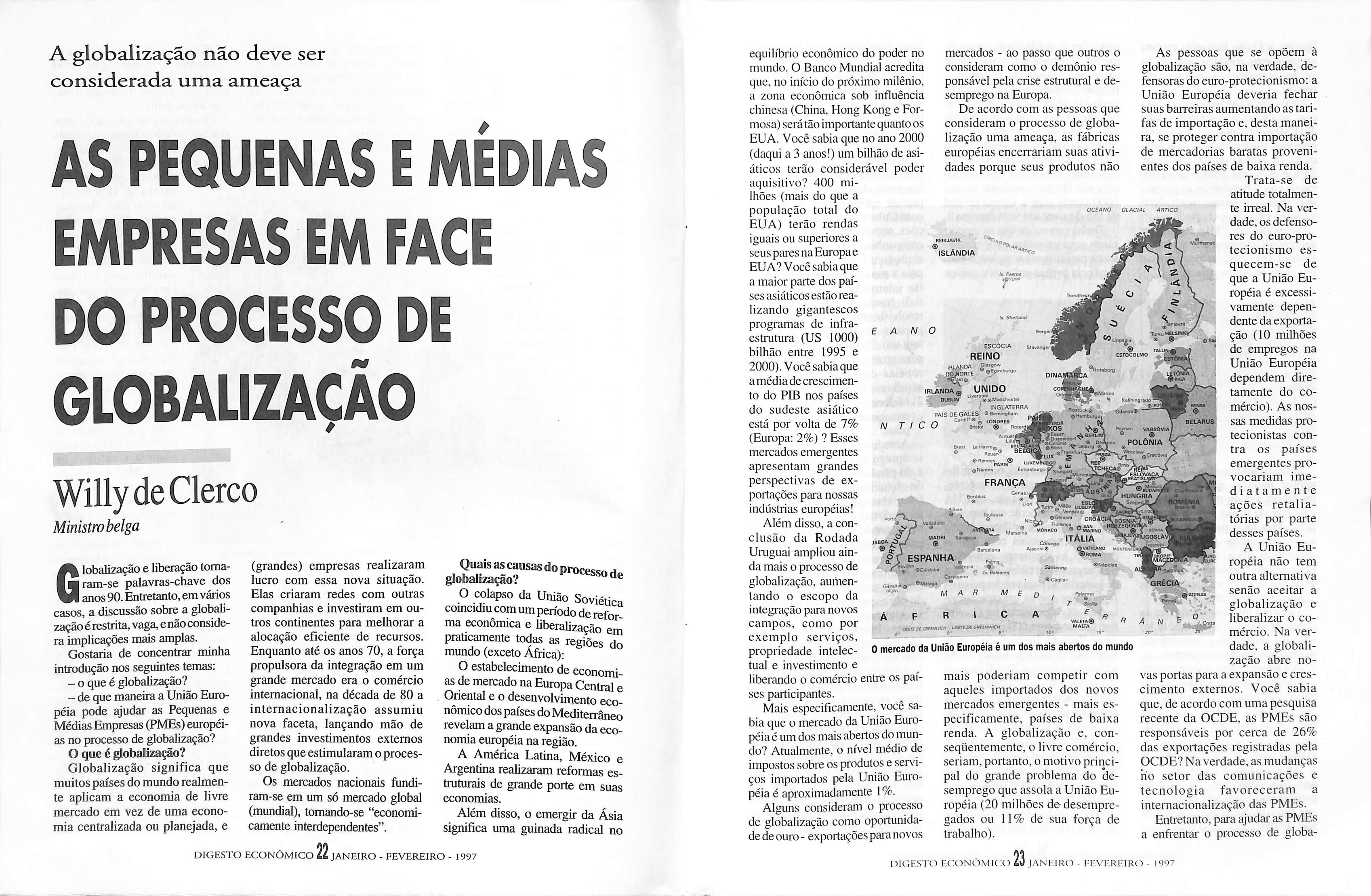
REINO IRLAtJDA I^ORTE UNIDO
O IRUXNDA 0 DUBLIN' Ll<rt'ROO< ( INGLATERRA
Kolm.norMO e CM»** ““ Ro»ioí»o . QHftPnlxTBD, ©● - país DE GALES' ®Brfm(ngh»m C»cl>"a^ LONDRES A N TICO 0 Rolcrcl os VARSÚVIA 0 AMuér POLÔNIA l.i»e'i B'««l e 6EI © Renn«4 <S)PARI& .CfKÓVlO ‘iSJit § REP lUXEMMB TCHECAé 5i^9Afl 'BSLOVA BRA77SUV FRANÇA I HUNGRIA / Z XK » UUBU* rô ® vbíw»© OGéoov» &0 flor«no« nOMlNJA €St L«OH 8 b
MADRI S«»gwa CRÒÀC N't: H ® '^MARINO Sü*i^ 69^LÃ o5T ITÁLIA iseoA ee Cáfsc^ã ^Barcelon# Q VATICANO ©ROMA A,K.->o® Of ESPANHA ^ TIR] SRpPJE lMAX^ kvftc í li. Btleties ®N4ool«9 GRÉClà d San/ínhi Al SCniii
As pessoas que se opõem à globalização são, na verdade, de fensoras do euro-protecionismo; a União Européia deveria fechar suas baixeiras aumentando as tari fas de importação e, desta manei ra, se proteger contra importação de mercadorias baratas proveni entes dos países de baixa renda. Trata-se de atitude totalmen te irreal. Na ver dade, os defenso res do euro-pro tecionismo esquecem-se de que a União Eu ropéia é excessi vamente depen dente da expoitação (10 milhões de empregos na União Européia dependem dire tamente do co mércio). As nosBEtARusi sas medidas pro tecionistas con tra os países emergentes pro vocariam ime diata ni e n t e ações retaliatórias por parte desses países.
Mais especificamente, você sa bia que o mercado da União Euro péia é um dos mais abertos do mun do? Atualmente, o nível médio de impostos sobre os produtos e servi ços importados pela União Euro péia é aproximadamente 1 %.
Alguns consideram o processo de globalização como oportunida de de ouro - exportações para novos
GLyaiiJ'9'' iRUNI :\ M A R M E O AIBNAS / r s c A í A I R Á F ‘E O fí Ã N VALETA© MALTA CÍSTTrfíWW.lCN iSSTíOí&fH^yiCH g0 ©●_ P' 0 mercado da União Européia é um dos mais abertos do mundo 15* mais poderíam competir com aqueles importados dos novos mercados emergentes - mais es pecificamente, países de baixa renda. A globalização e, conseqüentemente, o livre comércio, seriam, portanto, o motivo princi pal do grande problema do de semprego que assola a União Eu ropéia (20 milhões de de.sempregados ou 11 % de sua força de trabalho).
A União Eu ropéia não tem outra alternativa senão aceitar a globalização e liberalizar o co mércio. Na ver dade, a globali zação abre no vas portas para a expansão e cres cimento externos. Você sabia que, de acordo com uma pesquisa recente da OCDE. as PMEs são responsáveis por cerca de 26% das exportações registradas pela OCDE? Na verdade, as mudanças no setor das comunicações e tecnologia favoreceram a internacionalização das PMEs. Entretanto, pai‘a ajudai' as PMEs a enfrentai' o processo de globa-
OCBAHO CLACIAL ARTtCO
lização, a União Européia precisa xirgentemente conduzir uma pohtica que considere os seguintes as pectos:
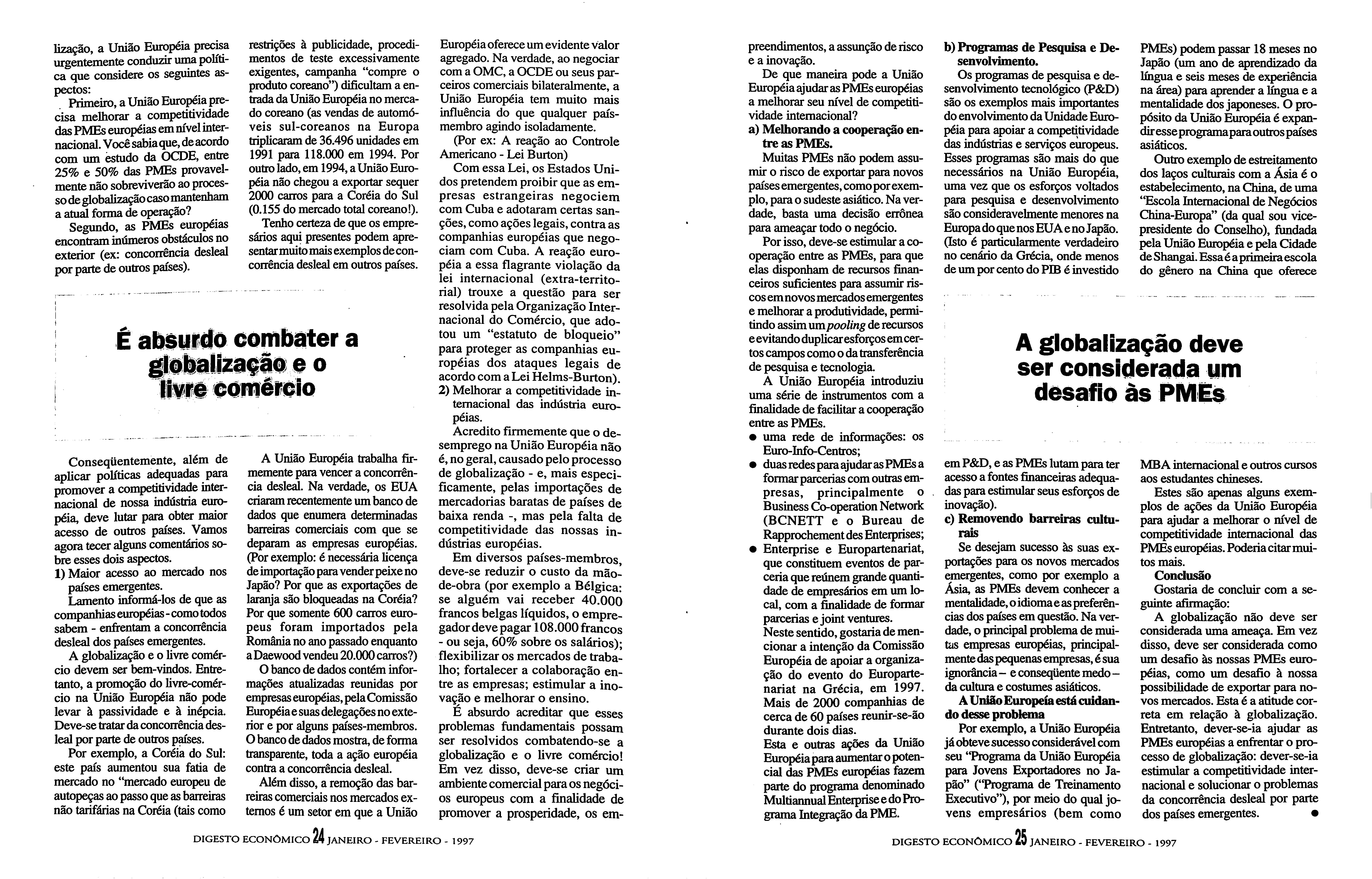
restrições à publicidade, procedi mentos de teste excessivamente
exigentes, campanha “compre o produto coreano”) dificultam a en trada da União Européia no mercacom um
Primeiro, a União Européia pre cisa melhorar a competitividade do coreano (as vendas de automódasPMEs européias em nível inter- veis sul-coreanos na Europa nacional. Você sabia que, de acordo triplicaram de 36.496 unidades em estudo da OCDE, entre 1991 para 118.000 em 1994. Por 25% e 50% das PMEs provável- outro lado, em 1994, a União Euromente não sobreviverão ao proces- péia não chegou a exporto sequer de globalização caso mantenham 2000 carros para a Coréia do Sul a atual forma de operação? (0.155 do mercado total coreano!).
Segundo, as PMEs européias Tenho certeza de que os empre- encontram inúmeros obstáculos no sários uqui presentes podem apreexterior (ex: concorrência desleal sentomuito mais exemplos de con- por parte de outros países). corrência desleal em outros países.
Ê ahiuida combater
a gliMízaflc e o ccmêicio
acesso
Conseqüentemente, além de aplicar políticas adequadas para promover a competitividade inter nacional de nossa indústria euro péia, deve luto para obter maior de outros países. Vamos agora tecer alguns comentários so bre esses dois aspectos.
1) Maior acesso ao mercado nos países emergentes.
Lamento informá-los de que as companhias européias - como todos sabem - enfrentam a concorrência desleal dos países emergentes.
A globalização e o livre comér cio devem ser bem-vindos. Entre tanto, a promoção do livre-comércio na União Européia não pode levar à passividade e à inépcia. Deve-se trato da concorrência des leal por parte de outros pmses. Por exemplo, a Coréia do Sul: este país aumentou sua fatia de mercado no “mercado europeu de autopeças ao passo que as barreiras não tarifárias na Coréia (tais como
A União Européia trabalha fir memente para vencer a concorrên cia desleal. Na verdade, os EUA criaram recentemente um banco de dados que enumera determinadas barreiras comerciais com que se deparam as empresas européias. (Por exemplo: é necessária licença de importação para vender peixe no Japão? Por que as exportações de laranja são bloqueadas na Coréia? Por que somente 6(X) carros euro peus foram importados pela România no ano passado enquanto a Daewood vendeu 20.000 carros?)
O banco de dados contém infor mações atualizadas reunidas por empresas européias, pela Comissão Européia e suas delegações no exte rior e por alguns países-membros. O banco de dados mostra, de forma transparente, toda a ação européia contra a concorrência desleal.
Além disso, a remoção das bar reiras comerciais nos mercados ex ternos é um setor em que a União
Européia oferece um evidente valor agregado. Na verdade, ao negociar com a OMC, a OCDE ou seus par ceiros comerciais bilateralmente, a União Européia tem muito mais influência do que qualquer paísmembro agindo isoladamente.
(Por ex: A reação ao Controle Americano - Lei Burton)
Com essa Lei, os Estados Uni dos pretendem proibir que as em presas estrangeiras negociem com Cuba e adotaram certas san ções, como ações legais, contra as companhias européias que nego ciam com Cuba. A reação euro péia a essa flagrante violação da lei internacional (extra-territorial) trouxe a questão para ser resolvida pela Organização Inter nacional do Comércio, que ado tou um “estatuto de bloqueio” para proteger as companhias eu ropéias dos ataques legais de acordo com a Lei Helms-Burton).
2) Melhorar a competitividade in ternacional das indústria euro péias.
Acredito firmemente que o de semprego na União Européia não é, no geral, causado pelo processo de globalização - e, mais especi ficamente, pelas importações de mercadorias baratas de países de baixa renda -, mas pela falta de competitividade das nossas in dústrias européias.
Em diversos países-membros, deve-se reduzir o custo da mãode-obra (por exemplo a Bélgica: se alguém vai receber 40.000 francos belgas líquidos, o empre gador deve pagar 108.000 francos - ou seja, 60% sobre os salários); flexibilizar os mercados de traba lho; fortalecer a colaboração en tre as empresas; estimular a ino vação e melhorar o ensino.
É absurdo acreditar que esses problemas fundamentais possam ser resolvidos combatendo-se a globalização e o livre comércio! Em vez disso, deve-se criar um ambiente comercial para os negóci os europeus com a finalidade de promover a prosperidade, os em-
preendimentos, a assunção de risco e a inovação.
De que maneira pode a União Européia ajudar as PMEs européias a melhorar seu nível de competiti vidade internacional?
a) Melhorando a cooperação en tre as PMEs.
Muitas PMEs não podem assu mir o risco de exporto para novos países emergentes, como por exem plo, para o sudeste asiático. Na ver dade, basta uma decisão errônea para ameaçar todo o negócio.
Por isso, deve-se estimular a co operação entre as PMEs, para que elas disponham de recursos finan ceiros suficientes para assumir ris cos emnovos mercados emergentes e melhorar a produtividade, permi tindo assim um pooling de recursos e evitando duplicar esforços em cer tos campos como o da transferência de pesquisa e tecnologia.
A União Européia introduziu uma série de instrumentos com a finalidade de facilito a cooperação entre as PMEs.
● uma rede de informações: os Euro-Info-Centros;
b) Programas de Pesquisa e De senvolvimento.
Os programas de pesquisa e de senvolvimento tecnológico (P&D) são os exemplos mais importantes do envolvimento da Unidade Euro péia para apoiar a competitividade das indústrias e serviços europeus. Esses programas são mais do que necessários na União Européia, uma vez que os esforços voltados para pesquisa e desenvolvimento são consideravelmente menores na Europa do que nos EUA e no Japão. (Isto é particulannente verdadeiro no cenário da Grécia, onde menos de um por cento do PIB é investido
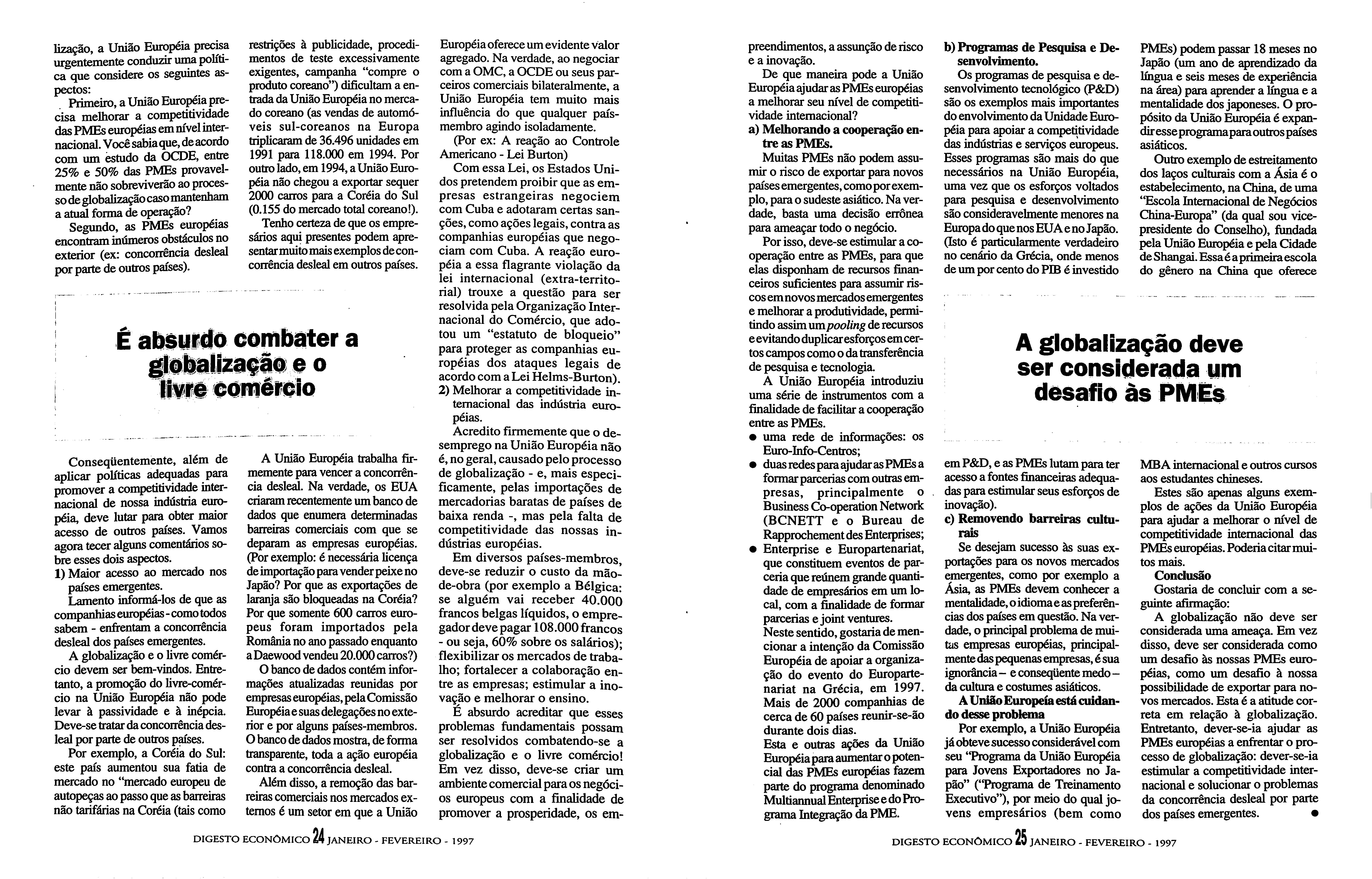
PMEs) podem passar 18 meses no Japão (um ano de aprendizado da língua e seis meses de experiência na área) para prender a língua e a mentalidade dos japoneses. O pro pósito da União Européia é expan dir esse programapara outros países asiáticos.
Outro exemplo de estreitmento dos laços culturais com a Ásia é o estabelecimento, na China, de uma “Escola Internacional de Negócios China-Europa” (da qual sou vicepresidente do Conselho), fundada pela União Européia e pela Cidade de Shangai. Essa é a primeira escola do gênero na China que oferece
A globalização deve ser considerada um desafio às PMis
em P&D, e as PMEs lutam para ter acesso a fontes financeiras adequa-
● duas redes para ajudar as PMEs a formar parcerias com outras empresas, principalmente o das para estimular seus esforços de Business Co-operation NetWork inovação).
(BCNETT e o Bureau de c) Removendo barreiras cultuRapprochement des Enterprises;
● Enterprise e Europartenariat, que constituem eventos de par ceria que reúnem grande quanti dade de empresários em um lo cal, com a finalidade de formar parcerias e joint ventures. Neste sentido, gostaria de men cionar a intenção da Comissão Européia de apoiar a organiza ção do evento do Europarte nariat na Grécia, em 1997. Mais de 2(XX) companhias de cerca de 60 países reunir-se-ão durante dois dias.
Esta e outras ações da União Européia para aumento o poten-
rais
Se desejam sucesso às suas ex portações para os novos mercados emergentes, como por exemplo a Ásia, as PMEs devem conhecer a mentalidade, o idioma e as preferên cias dos países em questão. Na ver dade, o principal problema de mui tas empresas européias, principal mente das pequenas empresas, é sua ignorância- econseqüentemedoda cultura e costumes asiáticos. A União Européia está cuidan do desse problema
Por exemplo, a Utúão Européia já obteve sucesso considerável com seu “Programa da União Européia ciai das PMEs européias fazem para Jovens Exportadores no Japarte do programa denominado pão” (‘Programa de Treinamento Multiarmual Enterprise e do Pro- Executivo”), por meio do qual jograma Integração da PME. vens empresários (bem como
MB A internacional e outros cursos aos estudantes chineses.
Estes são apenas alguns exem plos de ações da União Européia para ajudar a melhorar o nível de competitividade internacional das PMEs européias. Poderia citar mui tos mais.
Condusâo
Gostaria de concluir com a se guinte afirmação:
A globalização não deve ser considerada uma ameaça. Em vez disso, deve ser considerada como um desafio às nossas PMEs euro péias, como um desafio à nossa possibilidade de exporto para no vos mercados. Esta é a atitude cor reta em relação à globalização. Entretanto, dever-se-ia ajudar as PMEs européias a enfrentar o pro cesso de globalização: dever-se-ia estimular a competitividade inter nacional e solucionar o problemas da concorrência desleal por parte dos países emergentes. ●
Espero que todos reconheçam a importância das PMEs
A GLOBALIZAÇAO DAS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS E A FUNÇÃO DO GOVERNO
HideoTajima
DoMinistériodaIndústriaeComércioIntemacionaldoJapãi
Gostaria de discutir as recen tes tendências de globaliza ção das pequenas e médias empresas, as PMEs, principalmente no Japão e em outros países da Ásia. Gostaria também de dar mi nha opinião pessoal sobre os de safios que tais empresas podem enfrentar e o papel dos governos nesse sentido.
Como é do conhecimento de todos, a importância das PMEs é mundialmente reconhecida. Na verdade, algumas delas gozam de boa reputação devido (1) à sua função de estimular o desenvolvi mento econômico geral e (2) à sua contribuição para aumentar as oportunidades de emprego. As
PMEs já provaram seu excelente desempenho como participantes flexíveis do mercado. Também contribuíram substancialmente para a inovação.
As PMEs exercem também fun ção vital do ponto de vista social e cultural. Em termos sociais, tão estritamente ligadas às suas economias e comunidades locais por meio de investimentos ativos em recursos locais, como por exemplo, mão-de-obra, tecnologia e matéria-prima. Por meio desse relacionamento, exercem papel significativo no desenvolvimento local. Em termos culturais, as PMEs também exercem função crítica. Em regiões conhecidas ECONÔMICO
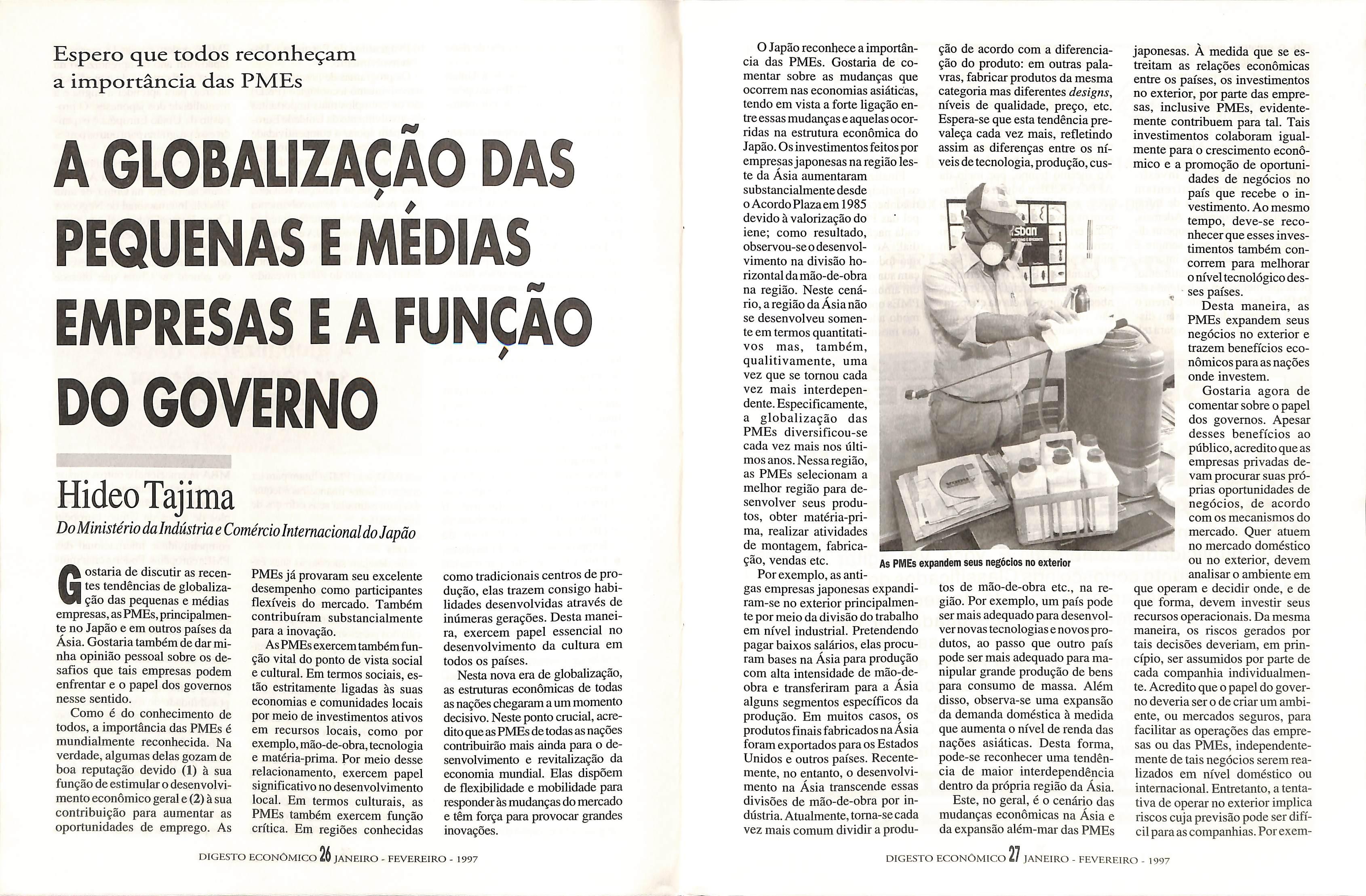
como tradicionais centros de pro dução, elas trazem consigo habi lidades desenvolvidas através de inúmeras gerações. Desta manei ra, exercem papel essencial desenvolvimento da cultura em todos os países.
Nesta nova era de globalização, as estruturas econômicas de todas as nações chegaram a um momento decisivo. Neste ponto crucial, acre dito que as PMEs de todas as nações contribuirão mais ainda para o de senvolvimento e revitalização da economia mundial. Elas dispõem de flexibilidade e mobilidade para responder às mudanças do mercado e têm força para provocar grandes inovações. no es-
o Japão reconhece a importân cia das PMEs. Gostaria de co mentar sobre as mudanças que ocorrem nas economias asiáticas, tendo em vista a forte ligação en tre essas mudanças e aquelas ocor ridas na estrutura econômica do Japão. Os investimentos feitos por empresas japonesas na região les te da Ásia aumentaram substancialmente desde 0 Acordo Plazaem 1985 devido à valorização do iene; como resultado, observou-se o desenvol vimento na divisão ho rizontal da mão-de-obra na região. Neste cená rio, a região da Ásia não se desenvolveu somen te em termos quantitati vos mas, também, qualitivamente, uma vez que se tomou cada vez mais interdepen dente. Especificamente, a globalização das PMEs diversificou-se cada vez mais nos últi mos anos. Nessa região, as PMEs selecionam a melhor região para de senvolver seus produ tos, obter matéria-pri ma, realizar atividades de montagem, fabrica ção, vendas etc. Por exemplo, as anti gas empresas japonesas expandiram-se no exterior principalmen te por meio da divisão do trabalho em nível industrial. Pretendendo pagar baixos salários, elas procu ram bases na Ásia para produção com alta intensidade de mão-de✓ ^ obra e transferiram para a Asia alguns segmentos específicos da produção. Em muitos casos, os produtos finais fabricados na Ásia foram exportados para os Estados Unidos e outros países. Recente mente, no entanto, o desenvolvi mento na Ásia transcende essas divisões de mão-de-obra por in dústria. Atualmente, toma-se cada vez mais comum dividir a produ-
ção de acordo com a diferencia ção do produto: em outras pala vras, fabricar produtos da mesma categoria mas diferentes designs, níveis de qualidade, preço, etc. Espera-se que esta tendência pre valeça cada vez mais, refletindo assim as diferenças entre os ní veis de tecnologia, produção, cus-
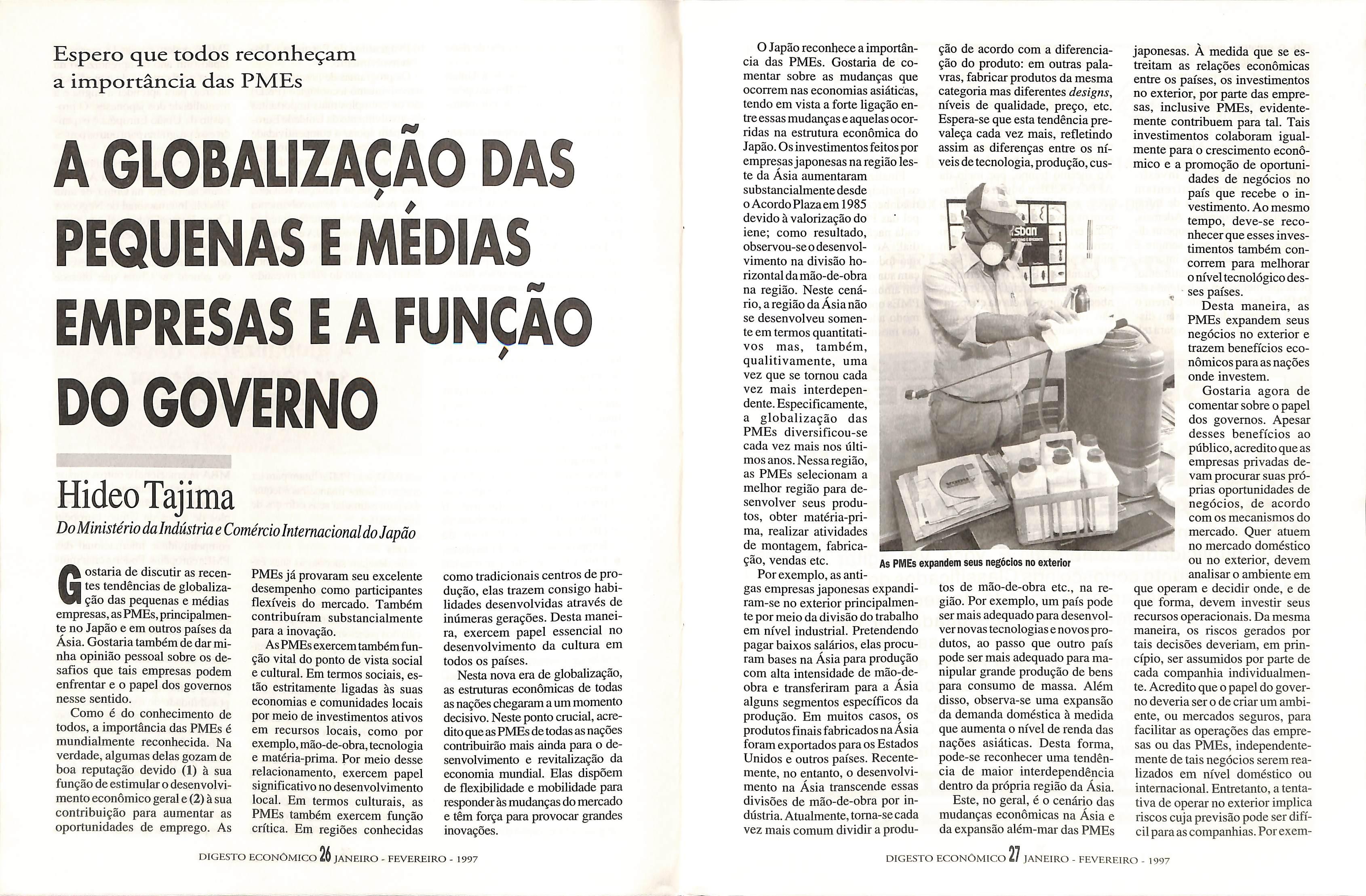
As PMEs expandem seus negócios no exterior
tos de mão-de-obra etc., na re gião. Por exemplo, um país pode ser mais adequado para desenvol ver novas tecnologias e novos pro dutos, ao passo que outro país pode ser mais adequado para ma nipular grande produção de bens para consumo de massa. Além disso, observa-se uma expansão da demanda doméstica à medida que aumenta o nível de renda das nações asiáticas. Desta forma, pode-se reconhecer uma tendên cia de maior interdependência dentro da própria região da Ásia. Este, no geral, é o cenário das mudanças econômicas na Ásia e da expansão além-mar das PMEs
^ V japonesas. A medida que se es treitam as relações econômicas entre os países, os investimentos no exterior, por parte das empre sas, inclusive PMEs, evidente mente contribuem para tal. Tais investimentos colaboram igual mente para o crescimento econô mico e a promoção de oportuni dades de negócios no país que recebe o in vestimento. Ao mesmo tempo, deve-se reco nhecer que esses inves timentos também con correm para melhorar o nível tecnológico des ses países.
Desta maneira, as PMEs expandem seus negócios no exterior e trazem benefícios eco nômicos para as nações onde investem.
Gostaria agora de comentar sobre o papel dos governos. Apesar desses benefícios ao público, acredito que as empresas privadas de vam procurar suas pró prias oportunidades de negócios, de acordo com os mecanismos do mercado. Quer atuem no mercado doméstico ou no exterior, devem analisar o ambiente em que operam e decidir onde, e de que forma, devem investir seus recursos operacionais. Da mesma maneira, os irscos gerados por tais decisões deveriam, em prin cípio, ser assumidos por parte de cada companhia individualmen te. Acredito que o papel do gover no deveria ser o de criai' um ambi ente, ou mercados seguros, para facilitar as operações das empre sas ou das PMEs, independente mente de tais negócios serem rea lizados em nível doméstico ou internacional. Entretanto, a tenta tiva de operar no exterior implica riscos cuja previsão pode ser difí cil para as companhias. Por exem-
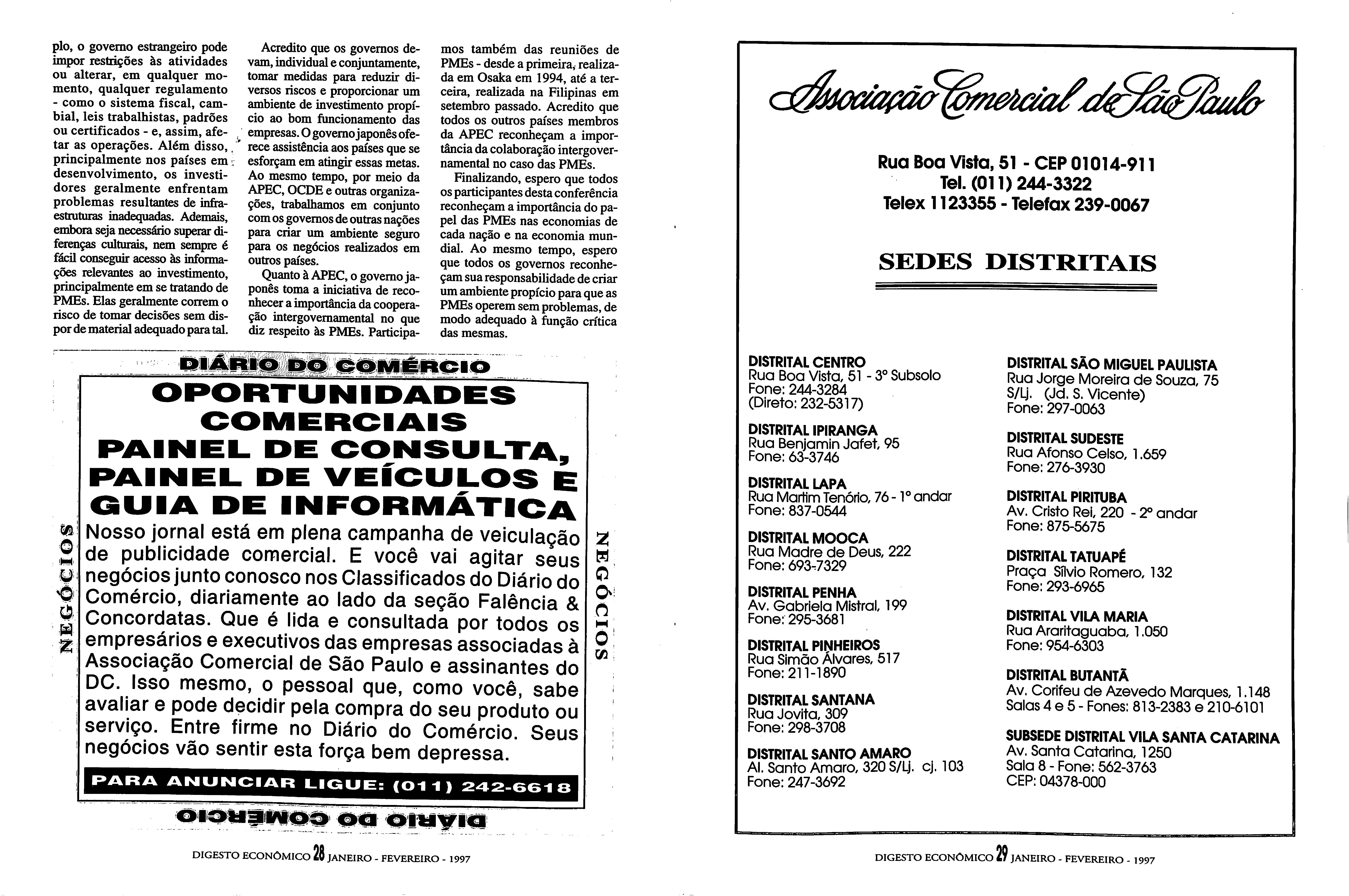
pio, o governo estrangeiro pode Acredito que os governos de- mos também das reuniões de impor restrições às atividades vam, individual e conjuntamente, PMEs - desde a primeira, realiza- ou alterar, em qualquer mo- tomar medidas para reduzir di- da em Osaka em 1994, até a termento, qualquer regulamento versos riscos e proporcionar um ceira, realizada na Filipinas em - como o sistema fiscal, cam- ambiente de investimento propí- setembro passado. Acredito que bial, leis trabalhistas, padrões cio ao bom funcionamento das todos os outros países membros ou certificados - e, assim, afe- ^ empresas. O governo japonês ofe- da APEC reconheçam a impor tar as operações. Aléin disso,, rece assistência aos países que se tância da colaboração intergover- principalmente nos países em esforçam em atingir essas metas. namental no caso das PMEs. desenvolvimento, os investi-
Ao mesmo tempo, por meio da Finalizando, espero que todos dores geralmente enfrentam APEC, OCDE e outras organiza- os participantes desta conferência problemas resultantes de mfra- ções, trabalhamos em conjunto reconheçam a importância do pa- estmturas inadequad^. Ademais, com os governos de outras nações pel das PMEs nas economias de embora seja necessano sup^nr di- para criar um ambiente seguro ferenças culturais, nem sempre é para os negócios realizados em fácil conseguir acesso às informa- outros países, ções relevantes ao investimento. Quanto à APEC, o governo ja- principalmente em se tratando de ponês toma a iniciativa de recoPMEs. Elas geralmente correm o nhecer a importância da coopera- lisco de tomar decisões sem dis- ção intergovemamental no que por de material adequado para tal. diz respeito às PMEs. Participa-
cada nação e na economia mun dial. Ao mesmo tempo, espero que todos os governos reconhe çam sua responsabilidade de criar um ambiente propício para que as PMEs operem sem problemas, de modo adequado à função crítica das mesmas.
RAINEL DE VEÍCULOS E
GUIA DE INFORMÁTICA
Nosso jornal está
Rua Boa Vista, 51 - CEP 01014-911
Tel. (011) 244-3322
Telex 1123355 - Telefax 239-0067
SEDES DISTRITAIS
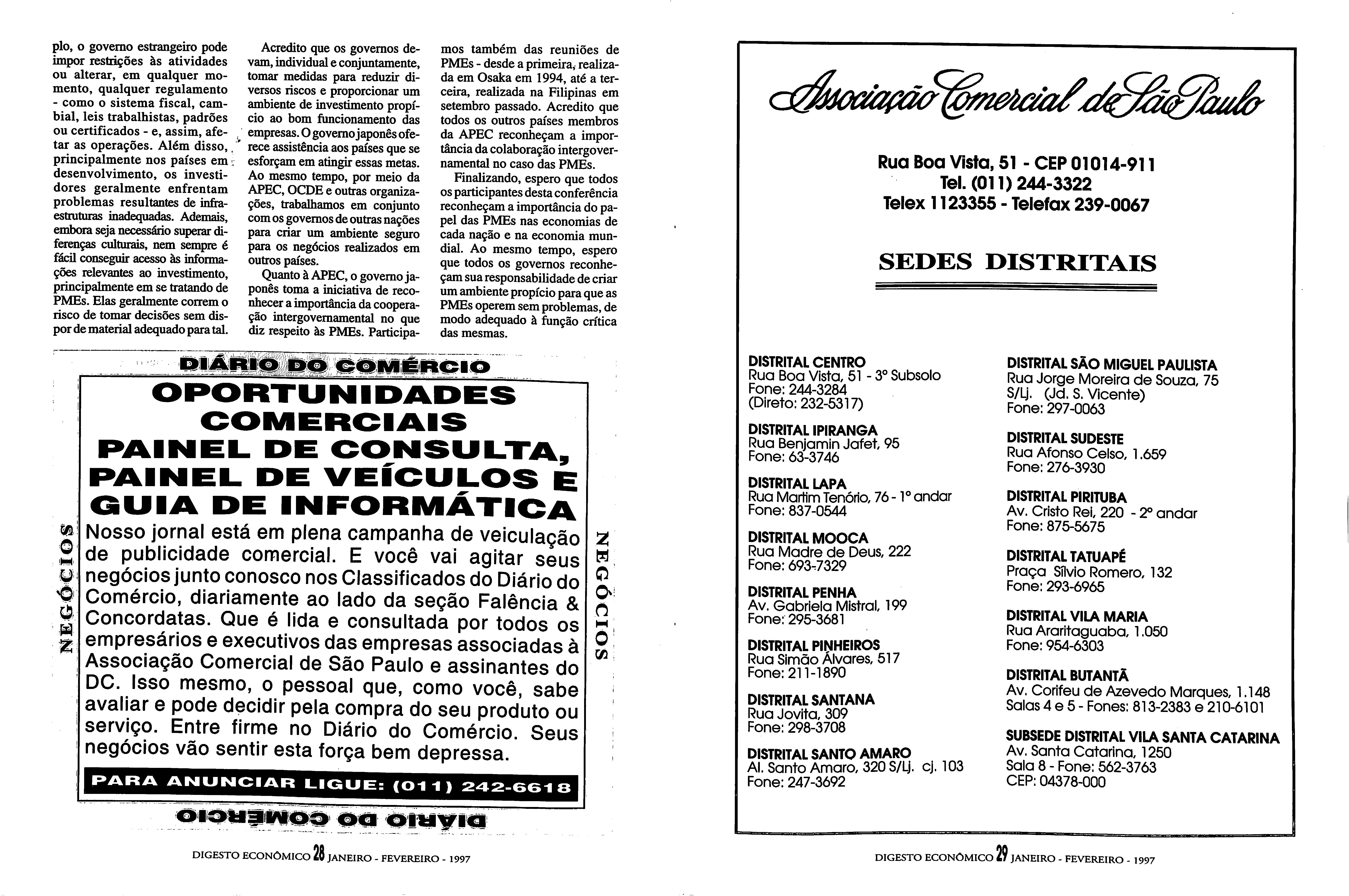
DISTRITAL CENTRO
Rua Boa Vista, 51 - 3° Subsolo Fone: 244-3284 (Direto: 232-5317)
DISTRITAL IPIRANGA
Rua Benjamin Jafet, 95 Fone: 63-3746
DISTRITAL LAPA
Rua Martim Tenório, 76-1° andar Fone: 837-0544
DISTRITAL MOOCA
Rua Madre de Deus, 222 Fone: 693.7329
DISTRITAL PENHA
Av. Gabriela Mistral, 199 Fone: 295-3681
DISTRITAL PINHEIROS
Rua Simõo Alvares, 517 Fone: 211-1890
DISTRITAL SANTANA
Rua Jovita, 309 Fone: 298-3708
DISTRITAL SANTO AMARO
Al. Santo Amaro, 320 S/lj. cj. 103 Fone: 247-3692
DISTRITAL SÃO MIGUEL PAULISTA
Rua Jorge Moreira de Souza, 75
S/lj. (Jd. S. Vicente) Fone: 297-0063
DISTRITAL SUDESIE
Rua Afonso Celso, 1.659 Fone: 276-3930
DISTRITAL PIRITUBA
Av. Cristo Rei, 220 - 2° andar Fone: 875-5675
DISTRITAL TATUAPÊ
Praça Sílvio Romero, 132 Fone: 293-6965
DISTRITAL VILA MARIA
Rua Araritaguaba, 1.050 Fone: 954-6303
DISTRITAL BUTANTÂ
Av. Corifeu de /\zevedo Marques, 1.148
Salas 4 e 5 - Fones: 813-2383 e 210-6101
SUBSEDE DISTRITAL VILA SANTA CATARINA
Av. Santa Catarina, 1250
Sala 8 - Fone: 562-3763
CEP: 04378-000
As infra-estruturas de sustentação melhoram a balança comercial
INICIATIVA DO GOViRNO PARA GLOBALIZAÇÃO DAS PEQUENAS É MÉDIAS EMPRESAS
NobuakiMatsunaga
Universidade Kobe - Japão
1. Introdução

mado “atividades da empresa”. Globalização significa estender essas atividades para além das fronteiras nacionais para que companhia possa realizar suas ta refas de maneira mais eficiente.
A globalização das Pequenas e Médias Empresas (PMEs) divi de-se em várias etapas; a primeira etapa inclui a importação e/ou exportação de produtos; a segun da envolve a criação de uma sub sidiária no exterior para adquirir, comercializar e/ou prestar servi-
Uma empresa é uma organiza ção econômica que produz e ven de bens e serviços com a finalida de de obter lucro. Para esse fim, a companhia compra materiais, pe ças, energia, serviços, máquinas, equipamentos necessários, procu ra capital e mão-de-obra, introduz nova tecnologia e projetos, em prega esses insumos, produz bens ou serviços e vende o resultado disso para obter lucro. Isto é chaa
ços de assistência; a terceira diz respeito à colaboração técnica entre empresas estrangeiras; a quarta envolve a criação de jointventures com empresas estrangei ras ou o estabelecimento de uma subsidiária local para produzir bens em outros países; a quinta etapa envolve o que se chama de “companhia transnacional”, que organiza cada companhia, do pon to de vista global, mas essa etapa ocorre raramente no caso das PMEs.
A quarta etapa é geralmente denominada “investimento exter no direto”, e é o tipo mais impor tante de globalização quando se trata de PMEs. O Investimento Extemo Direto é a transferência de um pacote de recursos gerenciais para outros países. A maioria das PMEs está repleta desses recursos geren ciais mas, recentemente, um número crescente de PMEs japonesas está à procura desses investi mentos externos diretos. Elas são impelidas a in vestir em outros países devido à desvalorização do iene, aumento das im portações, aumentos sa lariais e falta de mão-deobra no Japão.
2.0 que impede a globalização das PMEs?
O primeiro obstácu lo à globalização das PMEs são as políticas regulamentadoras e pro tecionistas dos gover nos. Algumas PMEs es tabelecem subsidiárias no exterior para evitar as restrições comerciais, mas essas PMEs são substituídas por empre sas de comércio inter nacional, mais eficien tes em termos econômi cos. No leste da Ásia, um número cada vez maior de PMEs cruzam as fronteiras nacionais por meio de investimento e comércio com outras nações. Este é um dos fato res mais importantes que tomam essa área um “centro de cresci mento”, e isto se tomou possível em virtude das liberalizações mú tuas ocorridas nesta área.
Em segundo lugar, a “política de ajuste negativo” tende a atrasar a globalização das PMEs. Essa política de ajuste negativo preten de proteger as companhias afeta das por um bmsco aumento nas importações. Há um bom motivo que justifica a aplicação dessa
política: a mudança brusca das condições econômica impõe cus tos de ajuste excessivos às com panhias afetadas. Mas a imple mentação da política deveria ser temporária e restrita às indústrias diretamente afetadas. A experi ência das economias da OCDE revela que a maioria das políticas

de ajuste negativo, uma vez adotadas, foram mantidas por muito tempo e abrangeram um maior número de indústrias do que necessário, sendo aplicadas principalmente às PMEs. As PMEs poderiam ver-se obrigadas a mudar seu local de operação para outros países onde pudessem ter vantagens comparativas. Por tanto, a política de ajuste negativo desestimula o investimento ex terno direto.
Terceiro, a contratação, em grande escala, de trabalhadores estrangeiros desqualificados, po dería prejudicar a globalização das PMEs. A disponibilidade de mão-
de-obra barata pode ajudar as PMEs a manter a competitividade nos países desenvolvidos e suas oficinas podem ser globalizadas com trabalhadores estrangeiros. Mas isso também desestimularia as PMEs a transferir suas fábricas para os países desenvolvidos onde pudessem reconquistar sua vanta gem competitiva; con sequentemente, seu in vestimento externo di reto é prejudicado. Além disso, a contra tação de trabalhadores estrangeiros desqualifi cados é um arranjo tem porário e tende a pro duzir grandes custos sociais a longo prazo. O investimento exter no direto gera oportu nidades de emprego nos países em desenvolvi mento, exceto no Japão, por exemplo. A trans ferência da tecnologia e o marketing são as condições básicas ao in vestimento externo di reto bem sucedido e, se tais condições forem atendidas, o investi mento externo é uma opção bem melhor do que a contratação de tra balhadores estrangeiros desqualificados em ter mos de globalização das PMEs.
3. Quais Iniciativas do governo promovem a globalização da PME?
Há seis anos tive a oportunida de de apresentar um relatório à 17“ ISBC realizada em Seul em 1990 sobre “Programa de Assis tência Internacional às Pequenas Empresas”. No relatório, fiz uma revisão dos investimentos exter nos diretos feitos por PMEs japo nesas e examinei as políticas do governo para promover o investi mento externo direto nos países em desenvolvimento: o montante dos investimentos externos dire tos das PMEs japonesas aumen-
Obstáculo à globalização das PMEs é o protecionismo
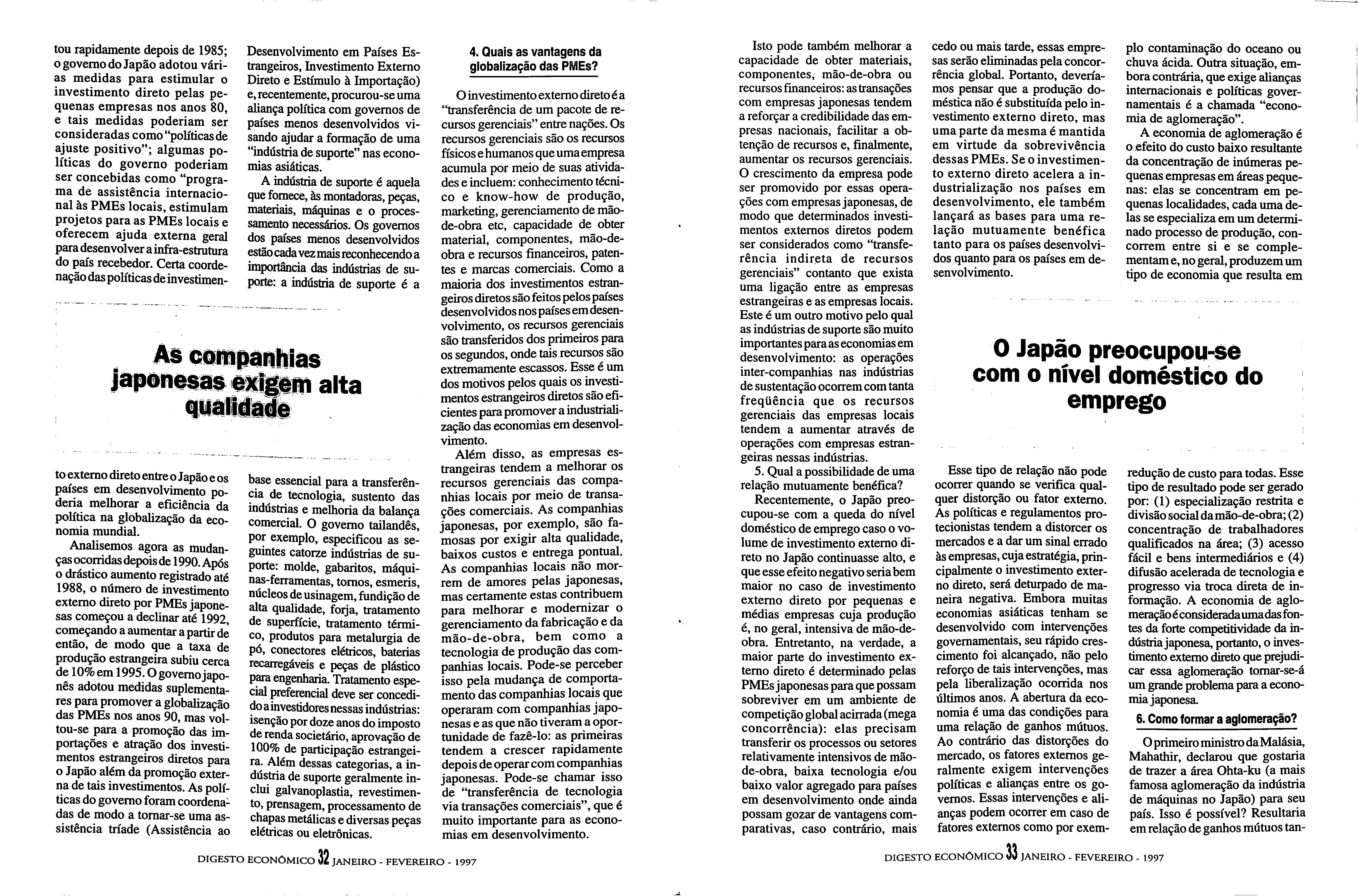
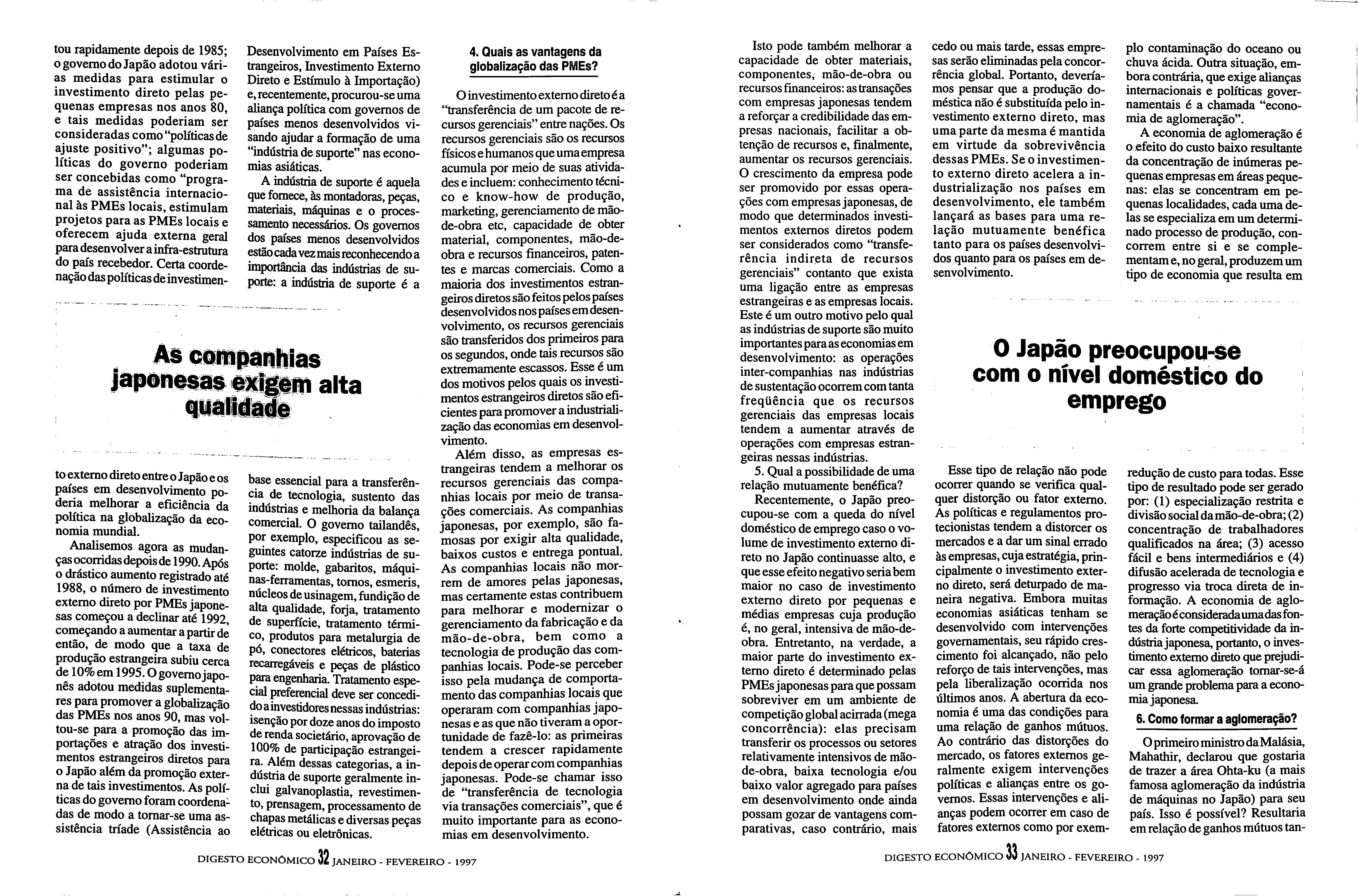
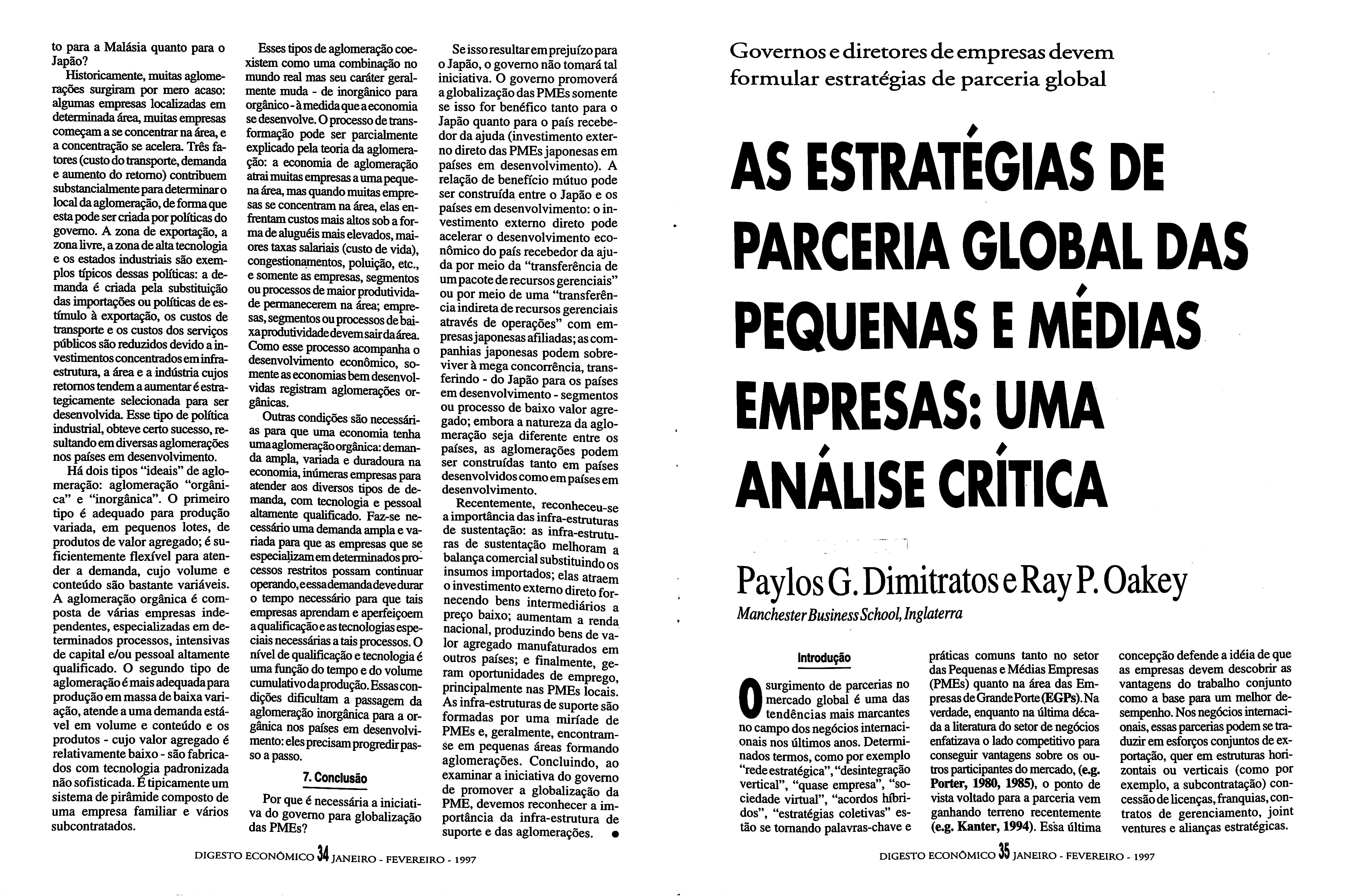
to para a Malásia quanto para o Japão?
Histoiicamente, muitas aglome rações surgiram por mero acaso: algumas empresas localizadas em determinada área, muitas enqrresas começam a se concentrar na área, e a concentração se acelera. Três fa tores (custo do transporte, demanda e aumento do retomo) contribuem substandalmente para determinar o local da aglomeração, de forma que esta pode ser criada por políticas do governo. A zona de exportação, a zona livre, a zona de alta tecnologia e os estados industriais são exem plos típicos dessas políticas: a de manda é criada pela substituição das importações ou políticas de es tímulo à exportação, os custos de transporte e os custos dos serviços públicos são reduzidos devido a in vestimentos concentrados eminftaestmtura, a área e a indústria cujos retornos tendem a aumentar é estra tegicamente selecionada para ser desenvolvida. Esse tipo de política industrial, obteve certo sucesso, re sultando em diversas aglomerações nos países em desenvolvimento.
Há dois tipos “ideais” de aglo meração: aglomeração “orgâni ca” e “inorgânica”. O primeiro tipo é adequado para produção variada, em pequenos lotes, de produtos de valor agregado; é su ficientemente flexível para aten der a demanda, cujo volume e conteúdo são bastante variáveis. A aglomeração orgânica é com posta de várias empresas inde pendentes, especializadas em de terminados processos, intensivas de capital e/ou pessoal altamente qualifícado. O segundo tipo de aglomeração é mais adequada para produção em massa de baixa vari ação, atende a uma demanda está vel em volume e conteúdo e os produtos - cujo valor agregado é relativamente baixo - são fabrica dos com tecnologia padronizada não sofisticada. É tipicamente um sistema de pirâmide composto de uma empresa familiar e vários subcontratados.
Esses tipos de aglomeração coe xistem como uma combinação no mundo real mas seu caráter geral mente muda - de inorgânico para orgânico - à medida que a economia se desenvolve. O processo de trans formação pode ser parcialmente explicado pela teoria da aglomera ção: a economia de aglomeração atrai muitas empresas a uma peque na área, mas quando muitas empre sas se concentram na área, elas en frentam custos mais altos sob a for ma de aluguéis mais elevados, mai ores taxas salariais (custo de vida), congestion^entos, poluição, etc., e somente as empresas, segmentos ou processos de maior produtivida de permanecerem na área; empre sas, segmentos ou processos de baixaprodutividade devem sair da área. Como esse processo acompanha o desenvolvimento econômico, inente as economias bem desenvol vidas registram aglomerações gânicas.
Outras condições são necessári as para que uma economia tenha umaaglomeração orgânica: deman da ampla, variada e duradoura econonúa, inúmeras ençresas para atender aos diversos tipos de de manda, com tecnologia e pessoal altamente qualificado. Faz-se ne cessário uma demanda ampla e va riada para que as empresas que se especializamem determinados prcn cessos restritos possam continuar operando, eessademandadevedurar o tempo necessário para que tais empresas aprendam e aperfeiçoem aqualificação e as tecnologias espe ciais necessárias a tais processos. O nível de qualificação e tecnologia é uma função do tempo e do volume cumulativo daprodução. Essas con dições dificultam a passagem da aglomeração inorgânica para gamca nos países em desenvolvi mento: eles precisam progredir pas so a passo.
7. Conclusão
Por que é necessária a iniciati va do governo para globalização das PMEs?
Se isso resultar em prejuízo para o Japão, o governo não tomará tal iniciativa. O governo promoverá a globalização das PMEs somente se isso for benéfico tanto para o Japão quanto para o país recebedor da ajuda (investimento exter no direto das PMEs japonesas em países em desenvolvimento). A relação de benefício mútuo pode ser construída entre o Japão e os países em desenvolvimento: o in vestimento externo direto pode acelerar o desenvolvimento econônüco do país recebedor da aju da por meio da “transferência de um pacote de recursos gerenciais” ou por meio de uma “transferên cia indireta de recursos gerenciais através de operações” com em presas japonesas afiliadas; as com panhias japonesas podem sobre viver à mega concorrência, trans ferindo - do Japão para os países em desenvolvimento - segmentos ou processo de baixo valor agre gado; embora a natureza da aglo meração seja diferente entre os países, as aglomerações podem ser construídas tanto em países desenvolvidos como em países em desenvolvimento.
Recentemente, reconheceu-se a importância das infra-estruturas de sustentação: as infira-estruturas de sustentação melhoram a balança comercial substituindo os insumos importados; elas atraem o investimento externo direto for necendo bens intermediários a preço baixo; aumentam „ nacional, produzindo bens de lor agregado manufaturados outros países; e finalmente, ram oportunidades de emprego, priiicipalmente nas PMEs locais. As infra-estruturas de suporte são formadas por uma miríade de PMEs e, geralmente, encontramse em pequenas areas formando aglomerações. Concluindo, ao examinar a iniciativa do governo de promover a globalização da PME, devemos reconhecer a im portância da infra-estrutura de suporte e das aglomerações. ●
a renda vaem ge-
Governos e diretores de empresas devem
formular estratégias de parceria global
S ESTRATÉGIAS DE PARCERIA GLOBAL DAS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS: UMA NÁUSE CRÍTICA
Paylos G. Dimitratos e Ray P. Oakey
Manchester Business School, Inglaterra
Introdução
0surgimento de parcerias no mercado global é uma das tendências mais marcantes no campo dos negócios internaci onais nos últimos anos. Determi nados termos, como por exemplo “rede estratégica”, “desintegração vertical”, “quase empresa”, “so ciedade virtual”, “acordos híbri dos”, “estratégias coletivas” es tão se tomando palavras-chave e
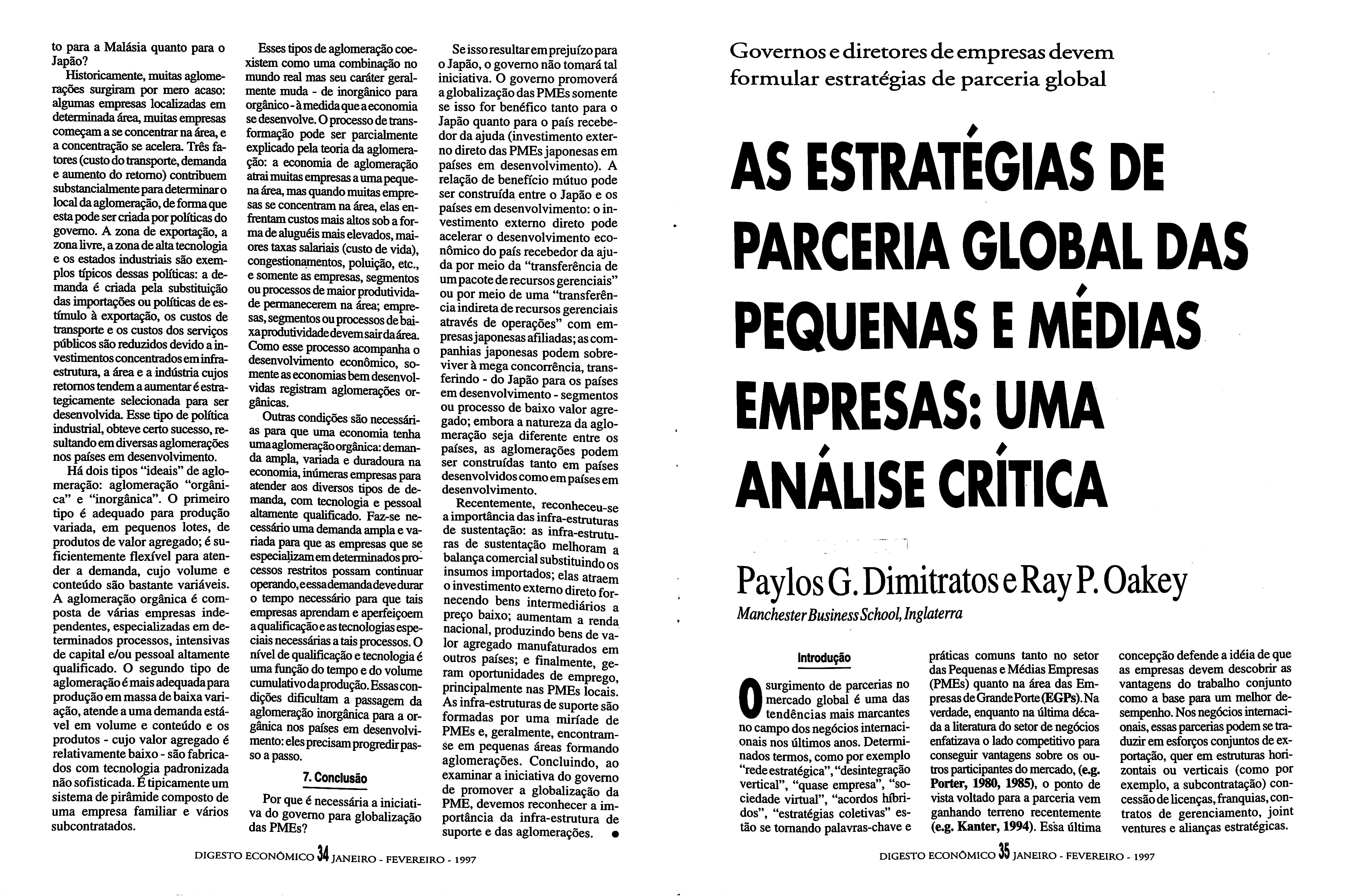
práticas comuns tanto no setor das Pequenas e Médias Empresas (PMEs) quanto na área das Em presas de GrandePorte (EGPs). Na verdade, enquanto na última déca da a literatura do setor de negócios enfatizava o lado competitivo para conseguir vantagens sobre os ou tros participantes do mercado, (e.g. Porter, 1980, 1985), o ponto de vista voltado para a parceria vem ganhando terreno recentemente (e.g. Kanter, 1994). Essa última
concepção defende a idéia de que as empresas devem descobrir as vantagens do trabalho conjunto como a base para um melhor de sempenho. Nos negócios internaci onais, essas parcerias podem se tra duzir em esforços conjuntos de ex portação, quer em estmturas hori zontais ou verticais (como por exemplo, a subcontratação) con cessão de ücenças, franquias, con tratos de gerenciamento, joint ventures e afianças estratégicas.
Essas parcerias ocorrem entre empresas de mais de uma nação. No entanto, as parcerias globais podem ser também implemen tadas por empresas do mesmo país, com a finalidade de penetrar nos mercados internacionais (e.g. o sistema japonês “kereitsu” nos EUA). Além disso, os motivos que levam à formação desses tipos de parceria podem variar. Diz-se geralmente (e.g. Burges etal., 1993; Hagedorn, 1993; Harrigan, 1988) que as empresas fazem isso para explorar no vas tecnologias, reduzir a demanda imprevisí vel, diminuir a incerte za competitiva ou en tramos mercados inter nacionais.
Em todas essas par cerias, as empresas em pregam uma estratégia de pool e/ou uma estra tégia de troca (Nielsen, 1998). Especificamen te, nas estratégias de pool, as empresas acu mulam recursos mútu os e, portanto, podem alcançar economias de escala. Isto ocorre quan do duas ou mais PMEs de vários países colabo ram para desenvolver know how sobre um determinado processo de produção com a in tenção de entrar no mercado glo bal. Por outro lado, na estratégia de troca, as organizações trocam o que têm de melhor. E o caso, por exemplo, de uma PME fabricante de um produto de alta tecnologia que faz uma joint venture com sócio estrangeiro - que dispõe de grande rede de distribuição - com a finalidade de comercializar o pro duto no país deste último. Deve-se enfatizar que, em ambos os tipos de estratégia, os recursos são com binados e compartilhados para reduzir duplicação e redundância dos esforços conjuntos.
Como não dispõem de recursos gerenciais e financeiros, as PMEs frequentemente recorrem a essas parcerias para competir no mer cado global. Geralmente, fazen do 0 papel de afiliadas em uma rede interorganizacional, elas sus tentam a empresa “central”, que estabelece os padrões e metas de
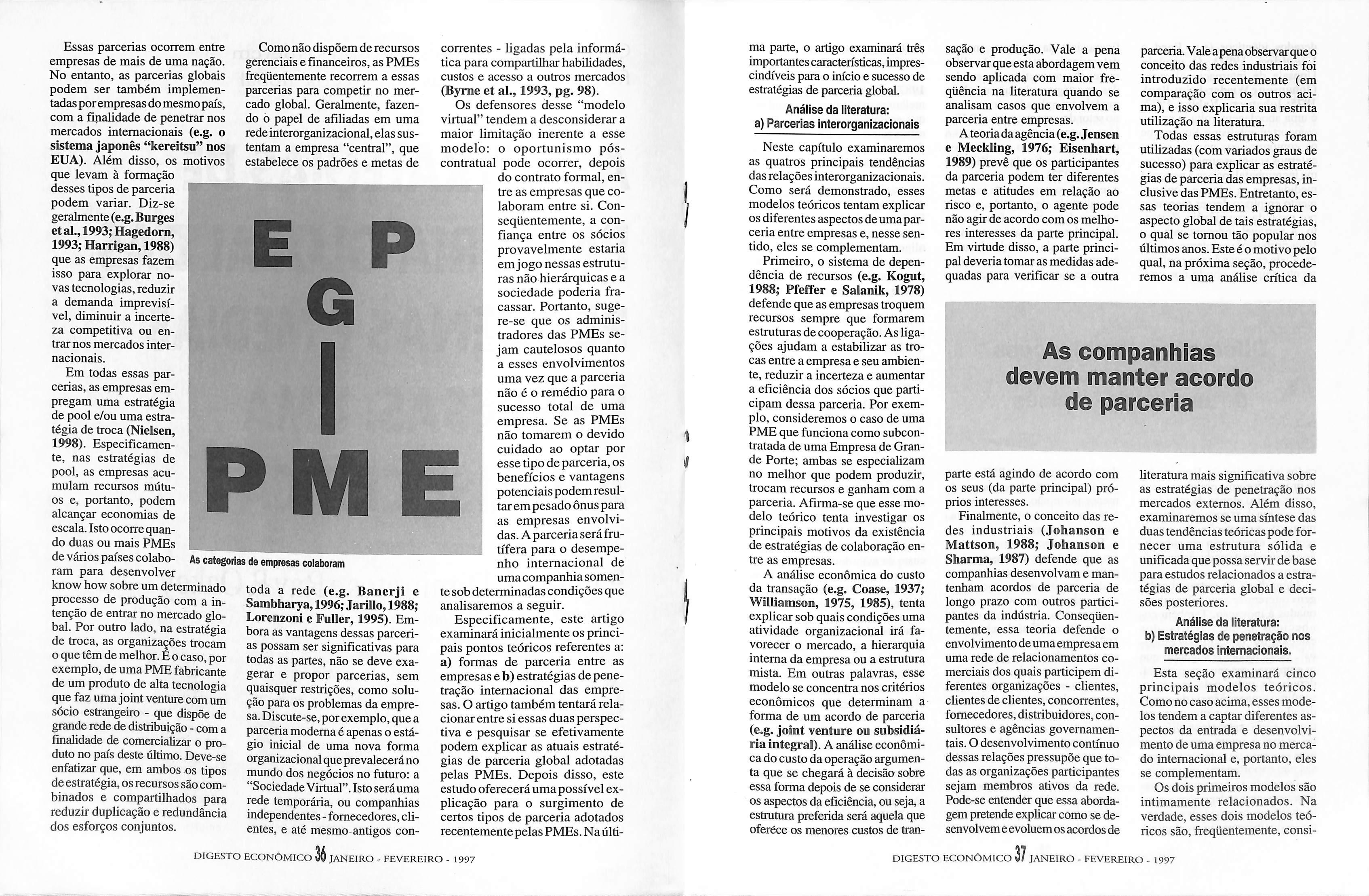
PEAs categorias de empresas colaboram
toda a rede (e.g. Banerji e Sambharya, 1996; Jarillo, 1988; Lorenzoni e Fuller, 1995). Em bora as vantagens dessas parceri as possam ser significativas para todas as partes, não se deve exa gerar e propor parcerias, sem quaisquer restrições, como solu ção para os problemas da empre sa. Discute-se, por exemplo, que a parceria moderna é apenas o está gio inicial de uma nova forma organizacional que prevalecerá no mundo dos negócios no futuro; a “Sociedade Virtual”. Isto será uma rede temporária, ou companhias independentes - fornecedores, cli entes, e até mesmo-antigos con-
correntes - ligadas pela informá tica para compartilhar habilidades, custos e acesso a outros mercados (Byrne et al., 1993, pg. 98).
Os defensores desse “modelo virtual” tendem a desconsiderar a maior limitação inerente a esse modelo: o oportunismo póscontratual pode ocorrer, depois do contrato formal, eni tre as empresas que co laboram entre si. Con sequentemente, a con fiança entre os sócios provavelmente estaria em jogo nessas estrutu ras não hierárquicas e a sociedade podería fra cassar. Portanto, suge re-se que os adminis tradores das PMEs se jam cautelosos quanto a esses envolvimentos uma vez que a parceria não é o remédio para o sucesso total de uma empresa. Se as PMEs não tomarem o devido cuidado ao optar por esse tipo de parceria, os benefícios e vantagens potenciais podem resul tar em pesado ônus para as empresas envolvi das. A parceria será fru tífera para o desempe nho internacional de uma companhia somen te sob determinadas condições que analisaremos a seguir.
Especificamente, este artigo examinará inicialmente os princi pais pontos teóricos referentes a: a) formas de parceria entre as empresas e b) estratégias de pene tração internacional das empre sas. O artigo também tentará rela cionar entre si essas duas perspec tiva e pesquisar se efetivamente podem explicar as atuais estraté gias de parceria global adotadas pelas PMEs. Depois disso, este estudo oferecerá uma possível ex plicação para o surgimento de certos tipos de parceria adotados recentemente pelas PMEs. Na últi-
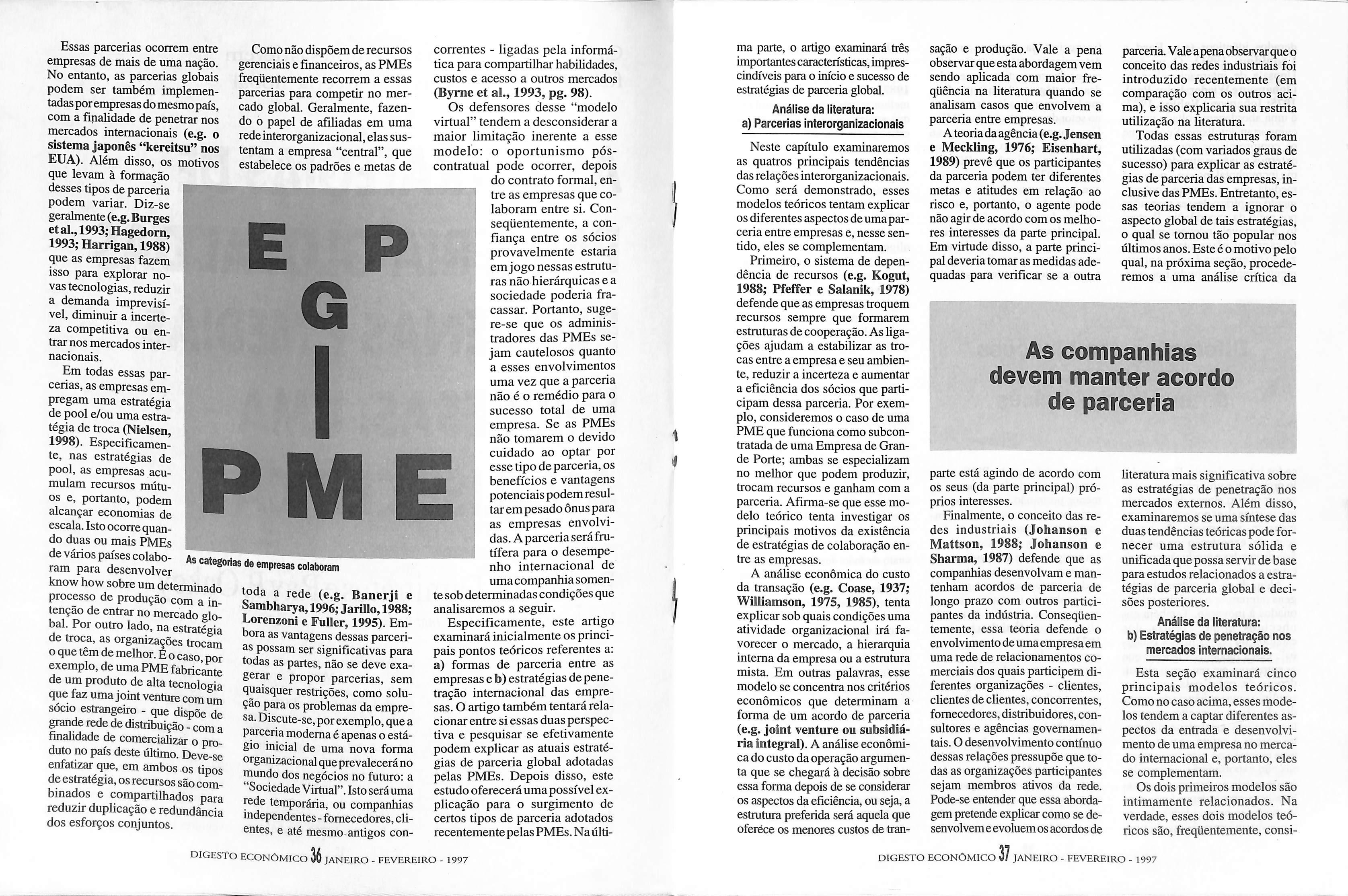
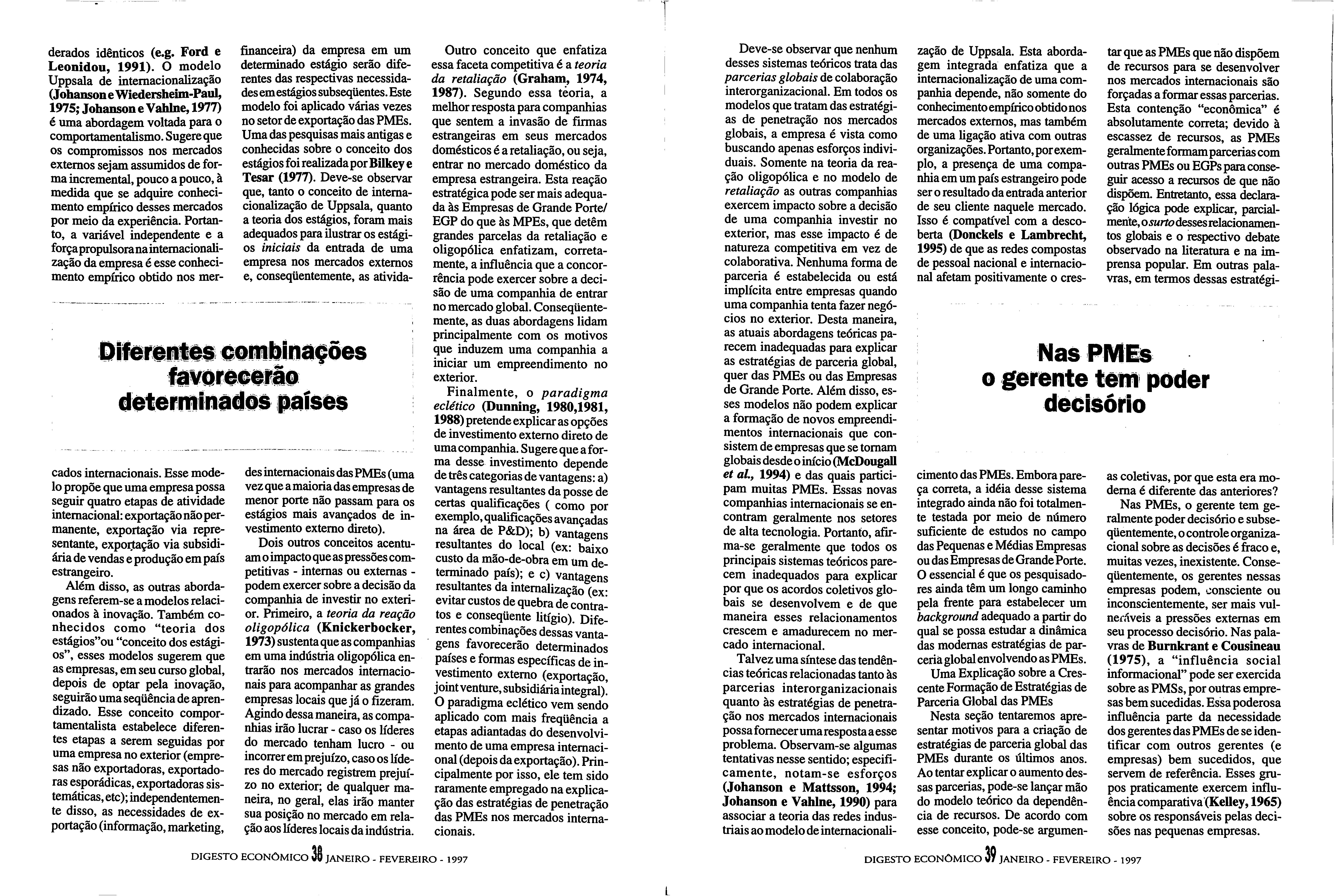
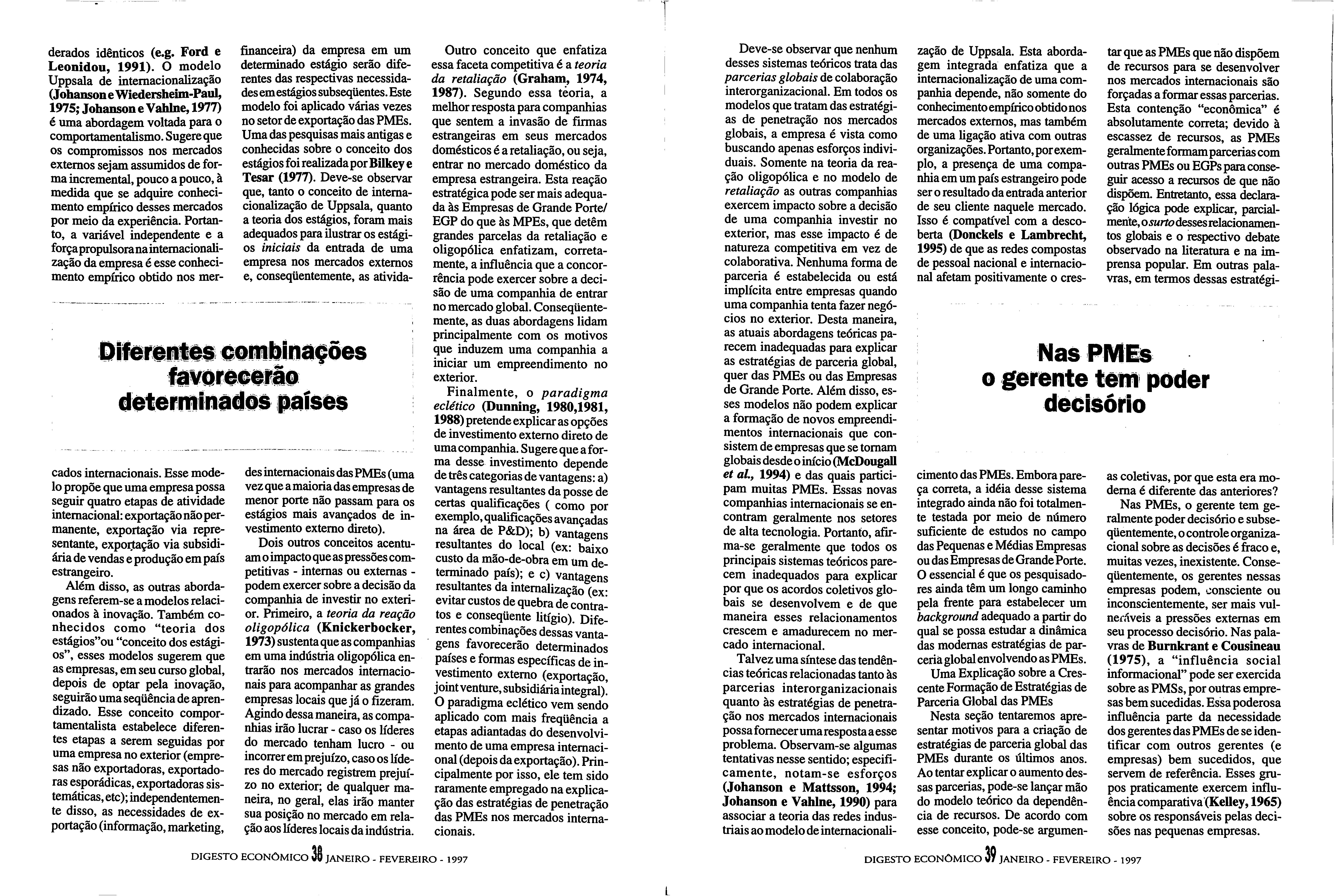
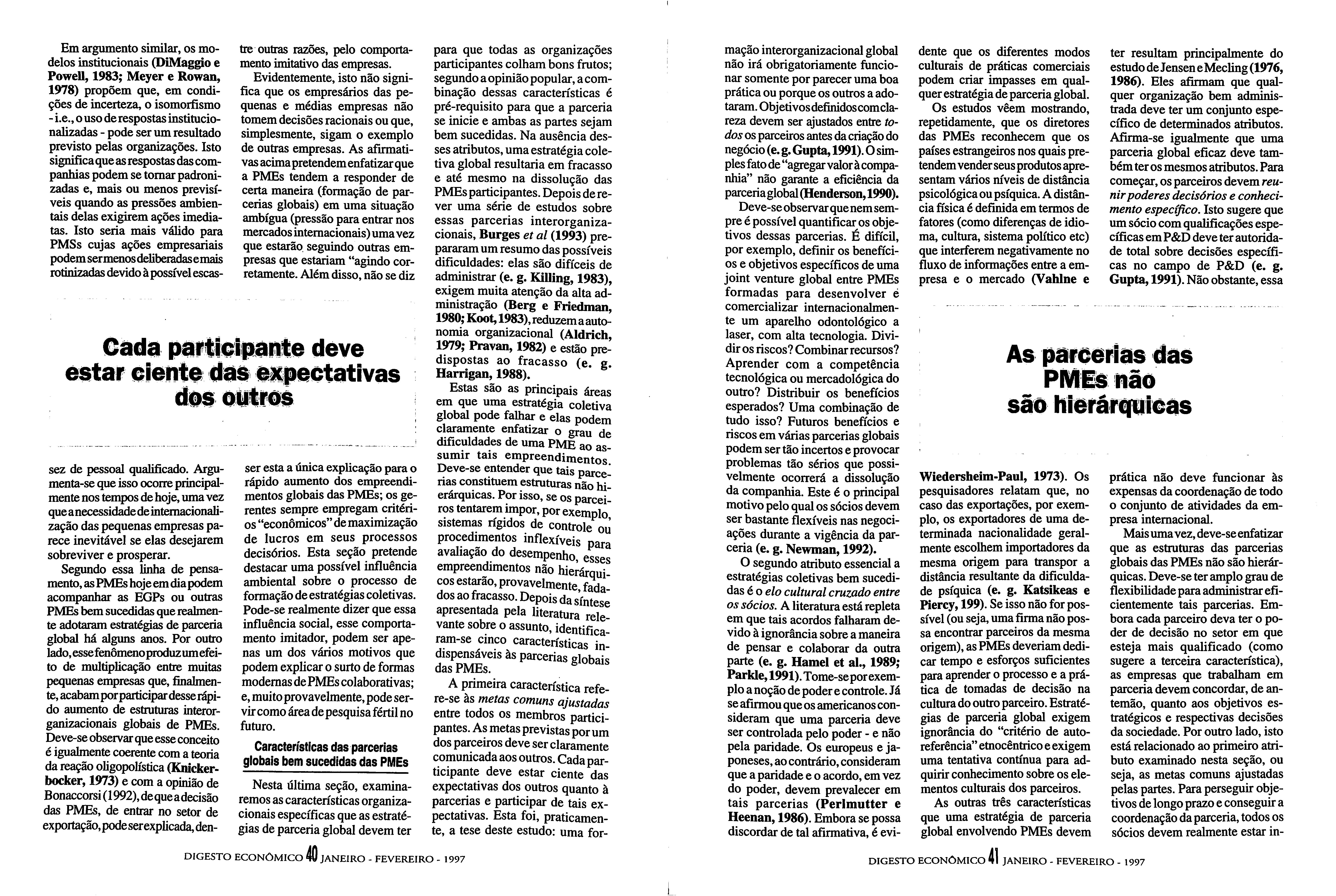
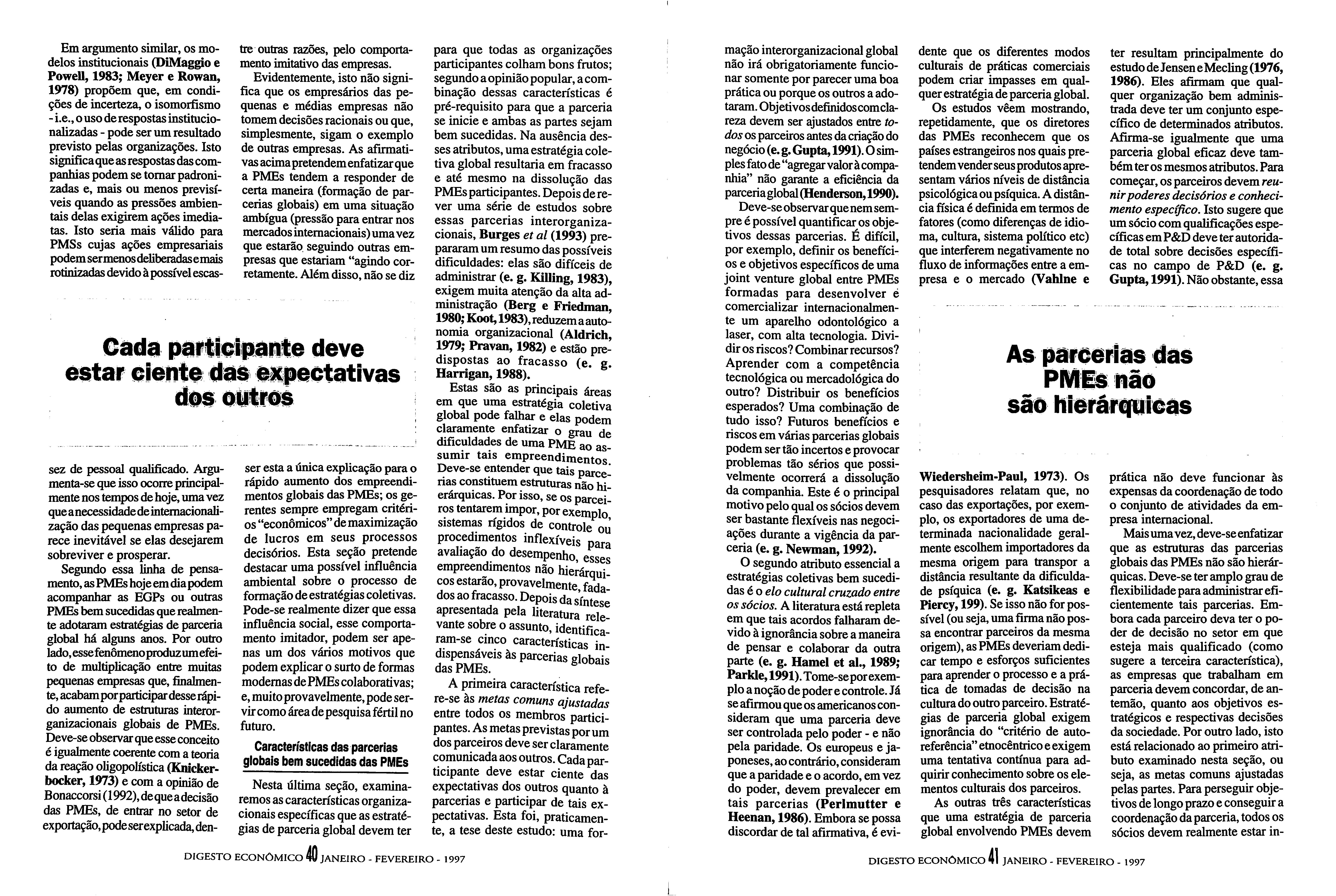
vestidos da autoridade final para tomar decisões estratégicas (em bora não necessariamente nos mesmos níveis). Isto implica tam bém que todos devem ser ouvidos em caso de divergências graves.
A quarta característica está in timamente relacionada à anterior. A parceria global deveria dispor de um sistema para avaliação do desempenho adequado. Para que uma parceria seja vantajosa para as partes, cada uma das empresas participantes deve saber o quanto os outros parceiros contribuem para que as metas comuns sejam alcançadas. Por outro lado, esse
em grandes xdomos futuros para as organizações participantes (Anderson, 1990). A melhor so lução nesses casos é usar um mis to de medidas qualitativas e quan titativas.
Finalmente, o quinto atributo de uma parceria global refere-se à transferência de incentivos ade quados. Trata-se aqui de estímu los especfficos cuja finalidade é motivar os parceiros a procurar objetivos comuns. À parte os ga nhos financeiros recebidos perio dicamente como resultado do bom funcionamento da parceria, as empresas participantes devem re-
parooiiãs globiits vão oontinuàr
conhecimento reduz o receio da ocorrência de um comportamento oportunista (Williamson, 1975, 1985) pelos parceiros. Uma rede organizada e integrada de siste mas de inform^ão é usada ocasio nalmente para av£fo o desemp^o, princçalmoite aitie as empresas que se ^contiam distantes umas das ou-
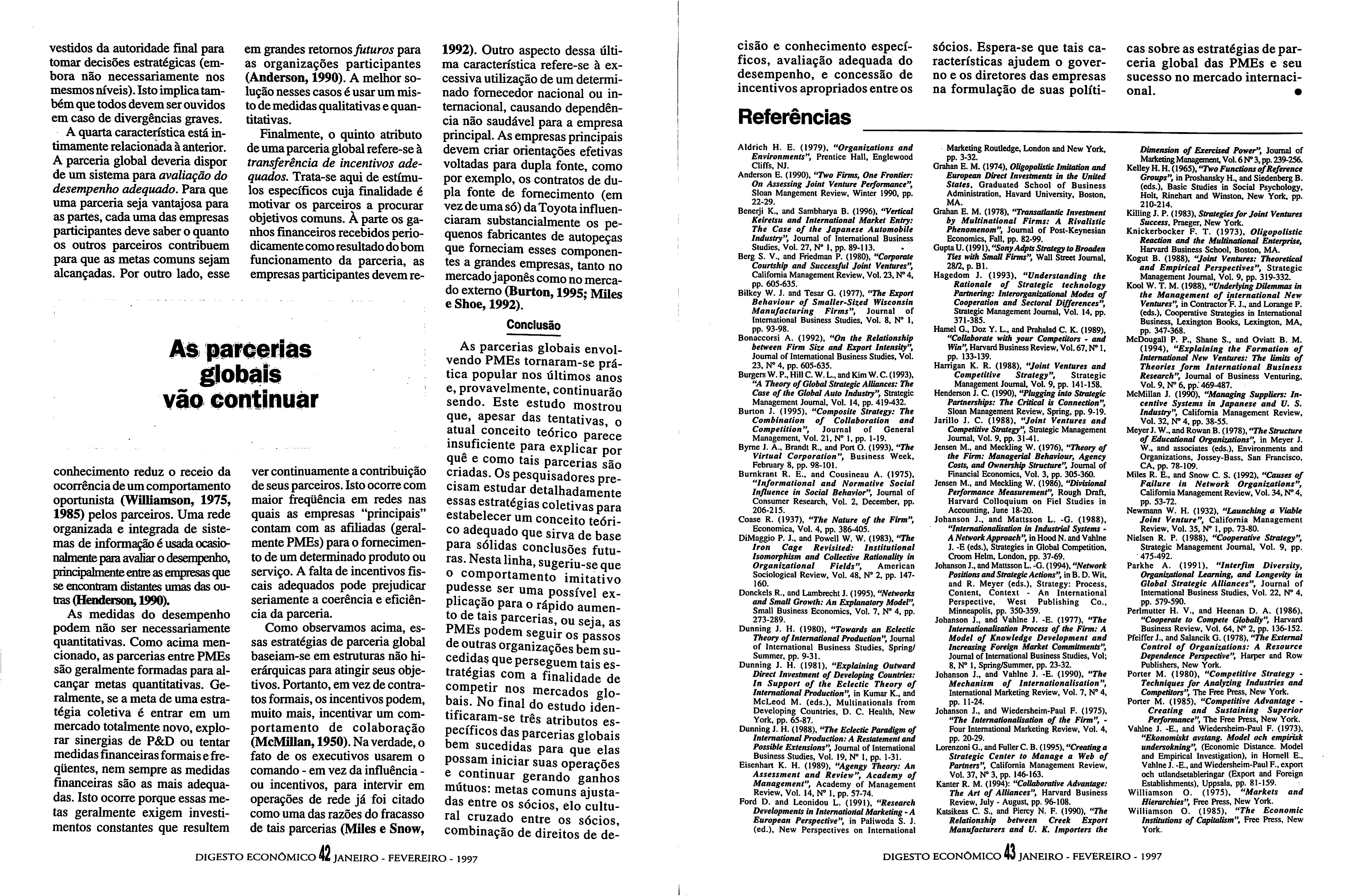
ver continuamente a contribuição de seus parceiros. Isto ocorre com maior fieqüência em redes nas quais as empresas “principais” contam com as afiüadas (geral mente PMEs) para o fornecimen to de um determinado produto ou serviço. A falta de incentivos fis cais adequados pode prejudicar seriamente a coerência e eficiên cia da parceria.
1992). Outro aspecto dessa últi ma característica refere-se à ex cessiva utihzação de um determi nado fornecedor nacional ou in ternacional, causando dependên cia não saudável para a empresa principal. As empresas principais devem criar orientações efetivas voltadas para dupla fonte, como por exemplo, os contratos de du pla fonte de fornecimento (em vez de uma só) da Toyota influen ciaram substancialmente os pe quenos fabricantes de autopeças que forneciam esses tes a grandes empresas, tanto mercado japonês como no merca do externo (Burton, 1995: Miles e Shoe, 1992). componenno
Conclusão
As parcerias globais envol vendo PMEs tornaram-se prá tica popular nos últimos e, provavelmente, continuarão sendo. Este estudo que, apesar das tentativas o atual conceito teórico parece insuficiente para explicar quê e como tais parcerias ko criadas. Os pesquisadores anos mostrou por
pre-
cisam estudar detalhadamente essas estratégias coletivas para estabelecer um conceito teóri co adequado que sirva de base para sólidas conclusões futu ras. Nesta linha, sugeriu-se que o comportamento imitativo pudesse ser uma possível plicação para o rápido puíc parcerias, ou seja, as PMEs podem seguir os passos de outras organizações bem cedidas que perseguem tais es tratégias com a finalidade de competir nos mercados glo bais. No final do estudo iden- tificaram-se três atributos es pecíficos das parcerias globais bem sucedidas para que elas possain iniciar suas operações e continuar gerando ganhos mútuos: metas comuns ajusta das entre os sócios, elo cultu ral cruzado entre os sócios, combinação de direitos de deex- tras (Henderson, 1990). aumen-
As medidas do desempenho podem não ser necessariamente quantitativas. Como acima men cionado, as parcerias entre PMEs são geralmente formadas para al cançar metas quantitativas. Ge ralmente, se a meta de uma estra tégia coletiva é entrar em um mercado totalmente novo, explo rar sinergias de P&D ou tentar medidas financeiras formais e ffeqüentes, nem sempre as medidas financeiras são as mais adequa das. Isto ocorre porque essas me tas geralmente exigem investi mentos constantes que resultem su-
Como observamos acima, es sas estratégias de parceria global baseiam-se em estruturas não hi erárquicas para atingir seus obje tivos. Portanto, em vez de contra tos formais, os incentivos podem, muito mais, incentivar um com portamento de colaboração (McMíllan, 1950). Na verdade, o fato de os executivos usarem o comando - em vez da influênciaou incentivos, para intervir em operações de rede já foi citado como uma das razões do fracasso de tais parcerias (Miles e Snow,
cisão e conhecimento especí ficos, avaliação adequada do desempenho, e concessão de incentivos apropriados entre os
Referências
Aldrich H. E. (1979), “Organizations and Environments”, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.
Anderson E. (1990), “Two Firms, One Frontíer: On Assessing Joint Venture Performance", Sloan Mangement Review, Winter 1990, pp. 22-29.
Beneiji K., and Sambhaiya B. (1996), “Vertical Keiretsu and International Market Entry: The Case of the Japanese Automobile Industry", Journal of International Business Studies, Vol. 27, N' 1, pp. 89-113.
Berg S. V., and Friedman P. (1980), “Corporate Courtship and Successful Joint Ventures", Califórnia Management Review, Vol. 23, N“ 4, pp. 605-635.
Bilkey W. J. and Tesar G. (1977), “The Export Behaviour of Smaller-Sized Wisconsin Manufacturing Firms", Journal of International Business Studies, Vol. 8, N° 1, pp. 93-98.
Bonaccorsi A. (1992), “On the Relationship between Firm Size atui Export Intensity", Journal of International Business Studies, Vol. 23, N» 4, pp. 605-635.
Burgers W. P., HilI C. W. L., and Kim W. C. (1993), “A Theoty of Global Strategic AlUances: The Case of the Global Auto Industry", Strategic Management Journal, Vol. 14, pp. 419-432.
Burton J. (1995), “Composite Strategy: The Combination of Collaboration and Competition", Journal of General Management, Vol. 21, N“ 1, pp. 1-19.
Byme J. A., Brandt R., and Port O. (1993), “The Virtual Corporation”, Business Week, February 8, pp. 98-101.
Bumkrant R. E., and Cousineau A. (1975), “Informational and Normative Social Influence in Social Behavior", Journal of Consumer Research, Vol. 2, December, pp. 206-215.
Coase R. (1937), “The Nature of the Firm", Economica, Vol. 4, pp. 386-405.
DiMaggio P. J., and Powell W. W. (1983), “The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields”, American Sociological Review, Vol. 48, N“ 2, pp. 147160.
Donckels R., and Lambrecht J. (1995), “Networks and Small Growth: An Explanatory Model", Small Business Economics, Vol. 7, N“ 4, pp. 273-289.
Dunning J. H. (1980), “Towards an Eclectic Theoty of International Production", Journal of International Business Studies, Spring/ Summer, pp. 9-31.
Dunning J. H. (1981), “Explaining Outward Direct Investment of Developing Countries: In Support of the Eclectic Theory of International Production”, in Kumar K., and McLeod M. (eds.), Multinationals from Developing Countries, D. C. Health, New York, pp. 65-87.
Dunning J. H. (1988), “The Eclectic Paradigm of International Production: A Restatement and Possible Extensions”, Journal of International Business Studies, Vol. 19, N“ 1, pp. 1-31.
Eisenhart K. H. (1989), “Agengy Theory: An Assessment and Review”, Academy of Management", Academy of Management Review, Vol. 14, N® 1, pp. 57-74.
sócios. Espera-se que tais ca racterísticas ajudem o gover no e os diretores das empresas na formulação de suas políti-
cas sobre as estratégias de par ceria global das PMEs e seu sucesso no mercado internaci onal. ●
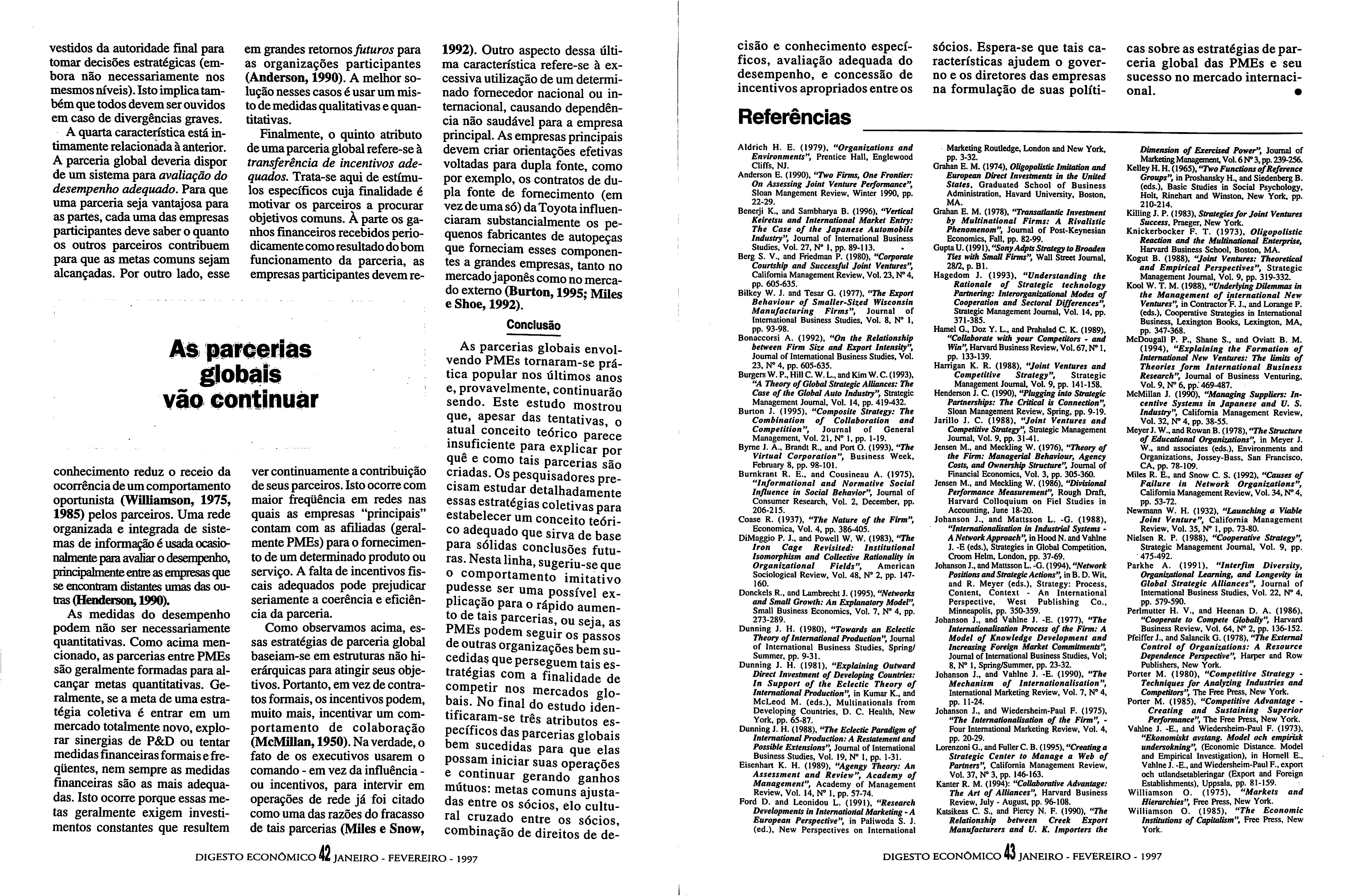
Ford D. and Leonidou L. (1991), “Research Developments ia Intematiortal Marketing - A European Perspective”, in Paliwoda S. J. (ed.), New Perspectives on International
Marketing Routledge, London and New York, pp. 3-32.
Grahan E. M. (1974), Oligopolistic Imitation and European Direct Investments ia the United States, Graduated School of Business Administration, Havard University, Boston, MA.
Grahan E. M. (1978), “Transaílantic Investment by Multinational Firms: A Rivalistic Phenomenom", Journal of Post-Keynesian Economics, Falí, pp. 82-99.
Gupta U. (1991), “SonyAdpts Strategy to Broaden Ties with Small Firms", Wall Street Journal, 28/2, p.Bl.
Hagedom J. (1993), “Understanding the Rationale of Strategic technology Partnering: Interorganizational Modes of Cooperation and Sectoral Differences”, Strategic Management Journal, Vol. 14, pp. 371-385.
Hamel G., Doz Y. L., and Prahalad C. K. (1989), “Collaborate with your Competitors - and Win", Harvard Business Review, Vol. 67, N“ 1, pp. 133-139.
Harrigan K. R. (1988), “Joint Ventures and Competitive Strategy”, Strategic Management Journal, Vol. 9, pp. 141-158.
Henderson J. C. (1990), “Plugging into Strategic Partnerships: The Criticai is Connection”, Sloan Management Review, Spring, pp. 9-19.
Jarillo J. C. (1988), “Joint Ventures and Competitive Strategy”, Strategic Management Journal, Vol. 9, pp. 31-41.
Jensen M., and Meckling W. (1976), “Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs, and Ownership Structure”, Journal of Financial Economics, Vol. 3, pp. 305-360.
Jensen M., and Meckling W. (1986), “Divisional Performance MeasuremenP*, Rough Draft, Harvard Colloquium on Fiel Studies in Accounting, June 18-20.
Johanson J., and Mattsson L. -G. (1988), “Intemationalisation in Industrial SystemsA NetWork Approach", in Hood N. and Vahlne J. -E (eds.), Strategies in Global Competition, Croom Helm, London, pp. 37-69.
Johanson J., and Mattsson L. -G. (1994), “NetWork Positions and Strategic Actions”, in B. D. Wit, and R. Meyer (eds.), Strategy: Process, Content, Context - An International Perspective, West Publishing Co., Minneapolis, pp. 350-359.
Johanson J., and Vahlne J. -E. (1977), “The Interruitionalisation Process of the Firm: A Model of Knowledge Development and Increasing Foreign Market Commiíments”, Journal of International Business Studies, Vol; 8, N“ 1, Spring/Summer, pp. 23-32.
Johanson J., and Vahlne J. -E. (1990), “The Mechanism of Intemationalisation”, International Marketing Review, Vol. 7, N® 4, pp. 11-24.
Johanson J., and Wiedersheim-Paul F. (1975), “The Intemationalisation of the Firm",Four International Marketing Review, Vol. 4, pp. 20-29.
Lorenzoni G., and Fuller C. B. (1995), “Creatinga Strategic Center to Manage a Web of Partners", Califórnia Management Review, Vol. 37, N“ 3, pp. 146-163.
Kanter R. M. (1994): “CoUaborative Advantage: The Art of AlUances”, Harvard Business Review, July - August, pp. 96-108.
Katsikeas C. S., and Pietcy N. F. (1990), “The Relationship between Creek Export Manufacturers and U. K. Importers the
Dimension of Exercised Power**, Journal of Marketing Management, Vol. 6 N® 3, pp. 239-256.
Kelley H. H. (1965), “2Vo Functions ofReference Groups", in Proshansky H., and Siedenberg B. (eds.), Basic Studies in Social Psychology, Holt, Rinehart and Winston, New York, pp. 210-214.
Killing J. P. (1983), Strategies for Joint Ventures Success, Praeger, New York.
Knickerbocker F. T. (1973), Oligopolistic Reaction and the Multinational Enterprise, Harvard Business School, Boston, MA.
Kogut B. (1988), “Joint Ventures: Theoretical and Empirical Perspectives", Strategic Management Journal, Vol. 9, pp. 319-332.
Kool W. T. M. (1988), “Underlying Düemmas in the Management of international New Ventures", in Contractorí^. J., and Lorange P. (eds.), Cooperative Strategies in International Business, Lexington Books, Lexington, MA, pp. 347-368.
McDougall P. P., Shane S., and Oviatt B. M. (1994), “Explaining the Formation of Intemationtd New Ventures: The Umits of Theories form International Business Research", Journal of Business Venturing, Vol. 9, N” 6, pp. 469-487.
McMilIan J. (19%), “Managing Suppliers: In centive Systems in Japanese and U. S. Industry", Califórnia Management Review, Vol. 32,N“4,pp. 38-55.
Meyer J. W., and Rowan B. (1978), “The Structure of Educational Organizations”, in Meyer J. W., and associares (eds.), Environments and Organizations, Jossey-Bass, San Francisco, CA, pp. 78-109.
Miles R. E., and Snow C. S. (1992), “Causes of Failure in NetWork Organizations", Califórnia Management Review, Vol. 34, N® 4, pp. 53-72.
Newmann W. H. (1932), “Launching a Viable Joint Venture”, Califórnia Management Review, Vol. 35, N® 1, pp. 73-80.
Nielsen R. P. (1988), “Cooperative Strategy", Strategic Management Journal, Vol. 9, pp. 475-492.
Parkhe A. (1991), “Interfim Diversity, Organizational Leaming, and Longevity in Global Strategic AlUances”, Journal of International Business Studies, Vol. 22, N° 4, pp. 579-590.
Perimutter H. V., and Heenan D. A. (1986), “Cooperate to Compete Globally", Harvard Business Review, Vol. 64, N® 2, pp. 136-152.
Pfeiffer J., and Salancik G. (1978), “The Externai Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective", Harper and Row Publishers, New York.
Porter M. (1980), “Competitive StrategyTechniques for Analyzing Industries and Competitors", The Free Press, New York.
Porter M. (1985), “Competitive AdvantageCreating and Sustaining Superior Peiformance”, The Free Press, New York.
Vahlne J. -E., and Wiedersheim-Paul F. (1973), “Ekonomiskt avstang. Model och empinsk undersokning", (Economic Distance. Model and Empirical Investigation), in Homell E., Vahlne J. -E., and Wiedersheim-Paul F., export och utlandsetableringar (Export and Foreign Establishments), Uppsala, pp. 81-159.
Williamson O. (1975), “Markets and Hierarchies”, Free Press, New York.
Williamson O. (1985), “The Economic Institutions of Capüalism", Free Press, New York.
A globalização deve significar escolha entre mercado livre e sociedade livre
GLOBALIZAÇAO E AS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS: A PERSPECTIVA DO MERCOSUL
Jorio Dauster
Embaixadordo Brasil na União Européia
Euma honra estar aqui para falar sobre a globalização e as Pequenas e Médias Em presas (PMEs) do ponto de vista do Mercosul.
Como muitos
aqui presen tes podem não estar familiari zados com este grupo de paí ses, quero iniciar dizendo que o MERCOSUL — o Mercado Comum do Sul - foi criado
1991 pela Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. A partir
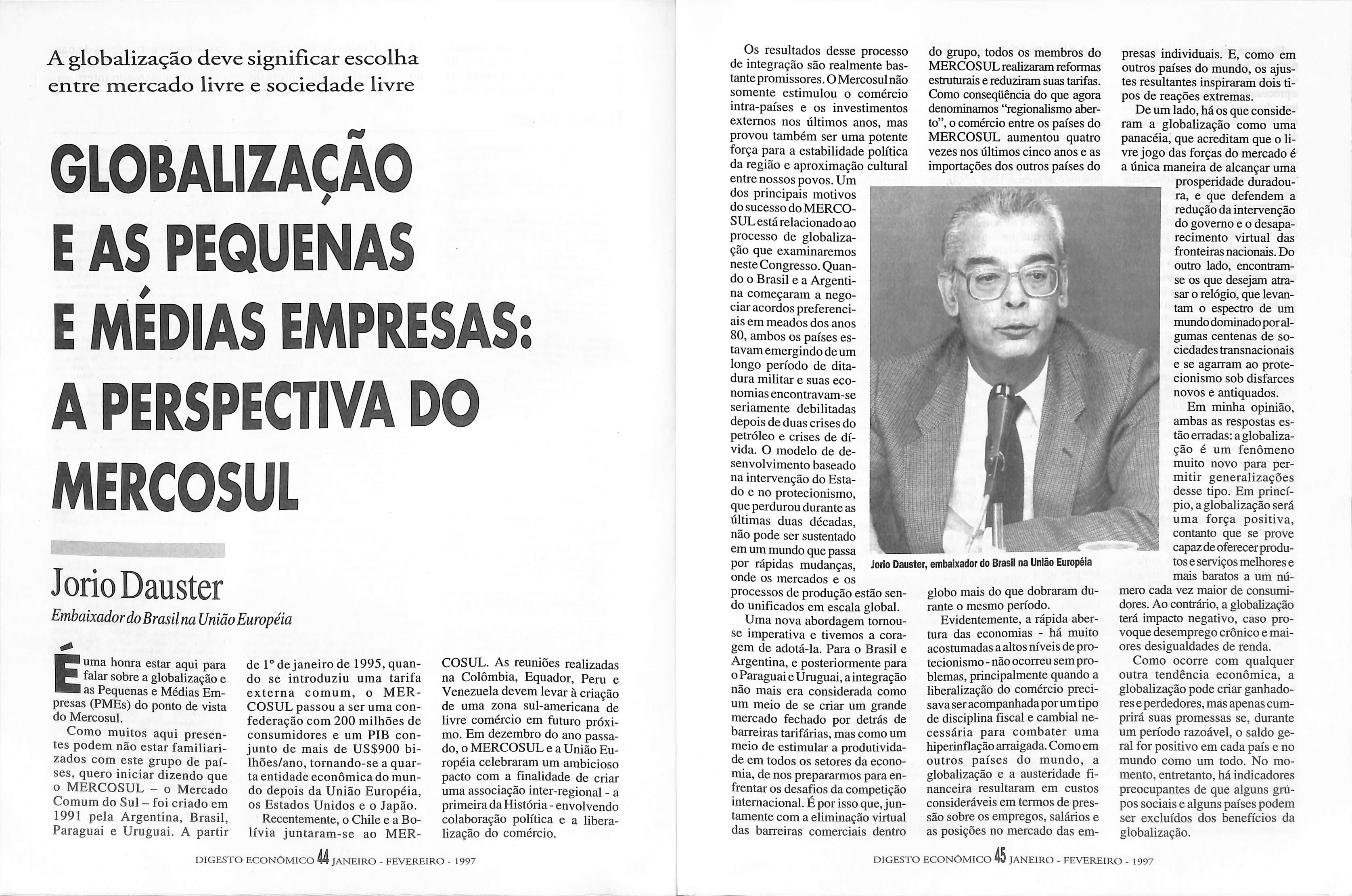
de 1° de janeiro de 1995, quan do se introduziu uma tarifa externa comum, o MER COSUL passou a ser uma con federação com 200 milhões de consumidores e um PIB con junto de mais de US$900 bi lhões/ano, tornando-se a quar ta entidade econômica do mun do depois da União Européia, os Estados Unidos e o Japão. Recentemente, o Chile e a Bo lívia juntaram-se ao MER-
COSUL. As reuniões realizadas na Colômbia, Equador, Peru e Venezuela devem levar à criação de uma zona sul-americana de livre comércio em futuro próxi mo. Em dezembro do ano passa do, o MERCOSUL e a União Eu ropéia celebraram um ambicioso pacto com a finalidade de criar uma associação inter-regional - a primeira da História - envolvendo colaboração política e a libera lização do comércio.
Os resultados desse processo de integração são realmente bas tante promissores. O Mercosul não somente estimulou o comércio intra-países e os investimentos externos nos últimos anos, mas provou também ser uma potente força para a estabilidade política da região e aproximação cultural entre nossos povos. Um dos principais motivos do sucesso do MERCO SUL está relacionado ao processo de globaliza ção que examinaremos neste Congresso. Quan do o Brasil e a Argenti na começaram a nego ciar acordos preferenci ais em meados dos anos 80, ambos os países es tavam emergindo de um longo período de dita dura militar e suas eco nomias encontravam-se seriamente debilitadas depois de duas crises do petróleo e crises de dí vida. O modelo de de senvolvimento baseado na intervenção do Esta do e no protecionismo, que perdurou durante as últimas duas décadas, não pode ser sustentado em um mundo que passa por rápidas mudanças, onde os mercados e os processos de produção estão sen do unificados em escala global. Uma nova abordagem tomouse imperativa e tivemos a cora gem de adotá-la. Para o Brasil e Argentina, e posteriormente para o Paraguai e Uruguai, a integração não mais era considerada como um meio de se criar um grande mercado fechado por detrás de barreiras tarifárias, mas como um meio de estimular a produtivida de em todos os setores da econo mia, de nos prepararmos para en frentar os desafios da competição internacional. É por isso que, jun tamente com a eliminação virtual das barreiras comerciais dentro
do grupo, todos os membros do MERCOSUL realizaram reformas estmturais e reduziram suas tarifas. Como conseqüência do que agora denominamos “regionalismo aber to”, 0 comércio entre os países do MERCOSUL aumentou quatro vezes nos últimos cinco anos e as importações dos outros países do
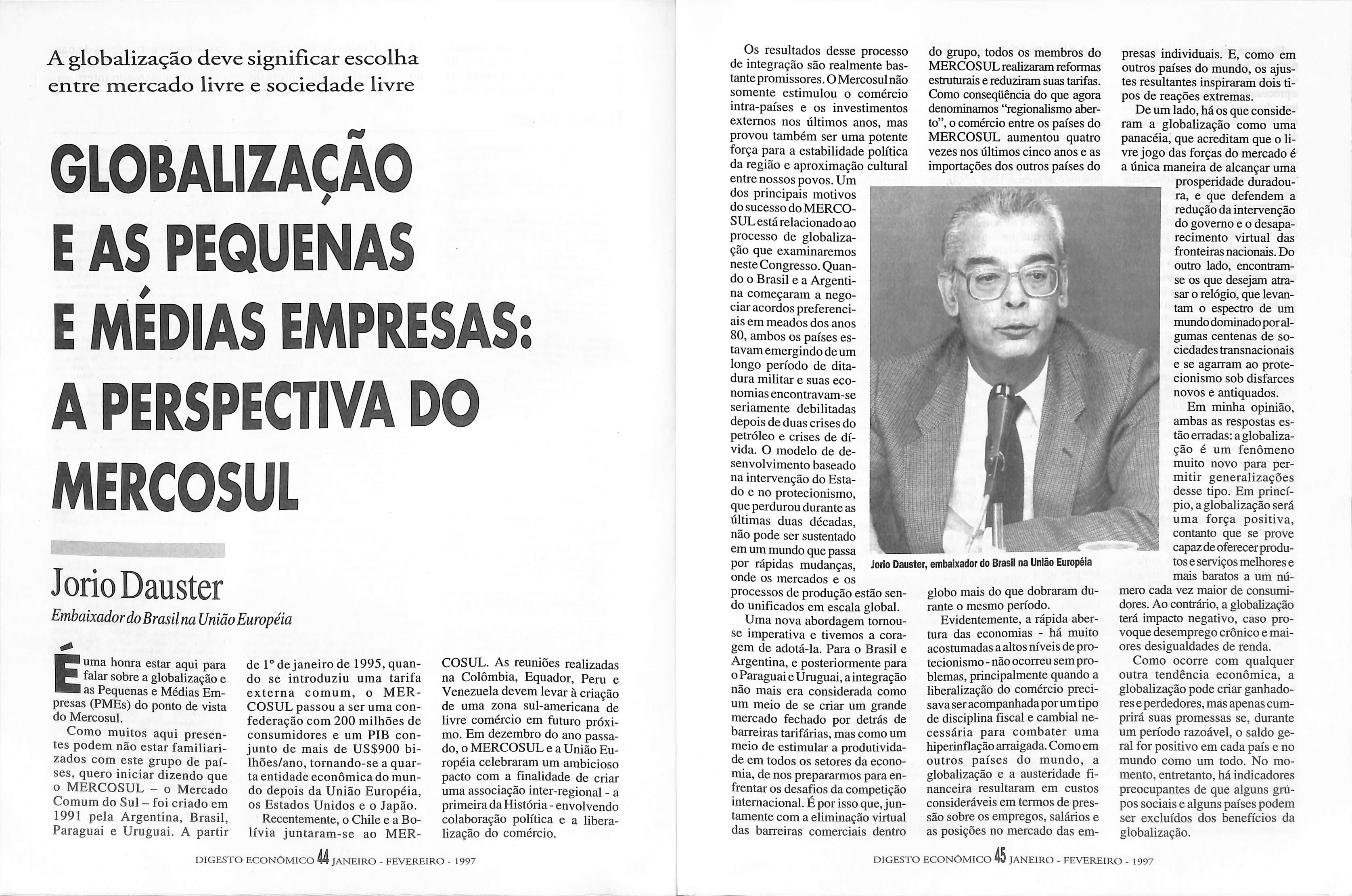
globo mais do que dobraram du rante o mesmo período.
Evidentemente, a rápida aber tura das economias - há muito acostumadas a altos níveis de pro tecionismo - não ocorreu sem pro blemas, principalmente quando a liberalização do comércio preci sava ser acompanhada por um tipo de disciplina fiscal e cambial ne cessária para combater uma hiperinflação arraigada. Como em outros países do mundo, a globalização e a austeridade fi nanceira resultaram em custos consideráveis em termos de pres são sobre os empregos, salários e as posições no mercado das em-
presas individuais. E, como em outros países do mundo, os ajus tes resultantes inspiraram dois ti pos de reações extremas.
De um lado, há os que conside ram a globalização como uma panacéia, que acreditam que o li vre jogo das forças do mercado é a única maneira de alcançar uma prosperidade duradou ra, e que defendem a redução da intervenção do governo e o desapa recimento virtual das íf onteiras nacionais. Do outro lado, encontramse os que desejam atra sar o relógio, que levan tam o espectro de um mundo dominado por al gumas centenas de so ciedades transnacionais e se agarram ao prote cionismo sob disfarces novos e antiquados. Em minha opinião, ambas as respostas es tão erradas: a globaliza ção é um fenômeno muito novo para per mitir generalizações desse tipo. Em princí pio, a globalização será uma força positiva, contanto que se prove capaz de oferecer produ tos e serviços melhores e mais baratos a um nú mero cada vez maior de consumi dores. Ao contrário, a globalização terá impacto negativo, caso pro voque desemprego crônico e mai ores desigualdades de renda. Como ocorre com qualquer outra tendência econômica, a globalização pode criar ganhado res e perdedores, más apenas cum prirá suas promessas se, durante um período razoável, o saldo ge ral for positivo em cada país e no mundo como um todo. No mo mento, entretanto, há indicadores preocupantes de que alguns gru pos sociais e alguns países podem ser excluídos dos benefícios da globalização.
Jorio Dauster, embaixador do Brasil na União Européia
Em parte, isto se deve aos altos padrões educacionais exigidos daqueles que utilizam tecnologias e processos produtivos que geram bons fiiitos. Como alguns grupos não privilegiados e a maior parte dos países em desenvolvimento não dispõem das qualificações necessárias, deve-se envidar um esforço deliberado para elevar seus padrões educacionais e permitir a participação total de tais grupos e países no processo de globaliza ção. Entretanto, é bem provável que as forças do mercado, isola damente, não consigam realizar essa tarefa e será necessária a ação do governo parafomecer um cam po de ação tanto em nível domés tico quanto internacional.
A ação do apoio dos governos será também necessária para esti mular o desenvolvimento das Pe quenas e Médias Empresas (PMEs). Estou convencido de que os custos sociais da globalização, tanto nos países desenvolvidos quanto nos países em desenvolvi mento, só poderão ser reduzidos se as pequenas e médias empresas forem capazes de absorver o cres cente número de trabalhadores demitidos das grandes empresas. Isto se aplica especialmente ao setor de prestação de serviços, em que empresas de menor porte po dem lucrar rapidamente com as oportunidades de terceirização oferecidas pelo governo e gran des companhias, sabendo utilizar suas vantagens comparativas em termos de agilidade, adaptabili dade e inovação.
Na verdade, o fortalecimento das PMEs é a melhor resposta para o problema do aumento do desemprego que vem atingindo muitas econonüas industriahzadas durante as últimas décadas e provavelmente afetará os países em desenvolvimento à medida que estes aceitarem os desafios da cres cente concorrência internacional. Quanto a esses países, o problema é ainda mais contundente devido à massa total de novos participan¬
tes na força de trabalho: por exem plo, o Brasil precisará criar quase 8 milhões de empregos para os jovens que entrarão no mercado de trabalho até o ano 2000. Não obstante, os investimentos necessá-
nos para cnar um emprego em uma PME no Brasil, por exemplo em uma fábrica de massas com 6 funci onários é de apenas US$ 2.500, ao passo que US$ 300.000 serão ne cessários para criar um emprego em uma fábrica de automóveis.
Muito do que precisa ser feito a favor das PMEs - tal como a redu ção da carga fiscal e trabalhista, ou facilidade de acesso aos instru mentos financeiros - ainda depen de de decisões tomadas em nível nacional, embora geralmente seja mais difícil para as PMEs - do que para as grandes empresas - articu lar e pressionar suas demandas. Entretanto, no Brasil, as PMEs podeih contar com o apoio de uma instituição bem dinâmica, a SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empre sa. Criado em 1972 como instituição governamental, a SEBRAE é atualmente financia da e dirigida pelo setor privado. Entretanto, a formação de gru pos regionais - como ocorreu na Europa - oferece nova perspecti va às PMEs e permite melhor _ ticulação de seus interesses. O MERCOSUL começou a tratar o problema das PMEsem 1993 (Re solução GMC 90/93). De acordo com essa resolução, as iniciativas a serem implementadas em mvel regional incluem a criação de grupo de trabalho especializado nas PMEs; a aprovação de programa de colaboração em qua- üdade e produtividade;
mento das PMEs com universida des e centros de pesquisa.
Recentemente, por meio da Resolução CMC 38/95, o. MERCOSUL resolveu melhorar o pro grama de qualidade e produtivi dade, e recorreu à colaboração da Comissão Européia, dentro do escopo de um projeto bi-regional, já existente, sobre padrões técni cos. A mesma Resolução aprovou o estabelecimento da REDSUR, uma rede de informação e comu nicação voltada para a promoção de joint-ventures entre as PMEs do MERCOSUL. Esse projeto será implementado com a ajuda do Banco Inter-Americano de De senvolvimento.
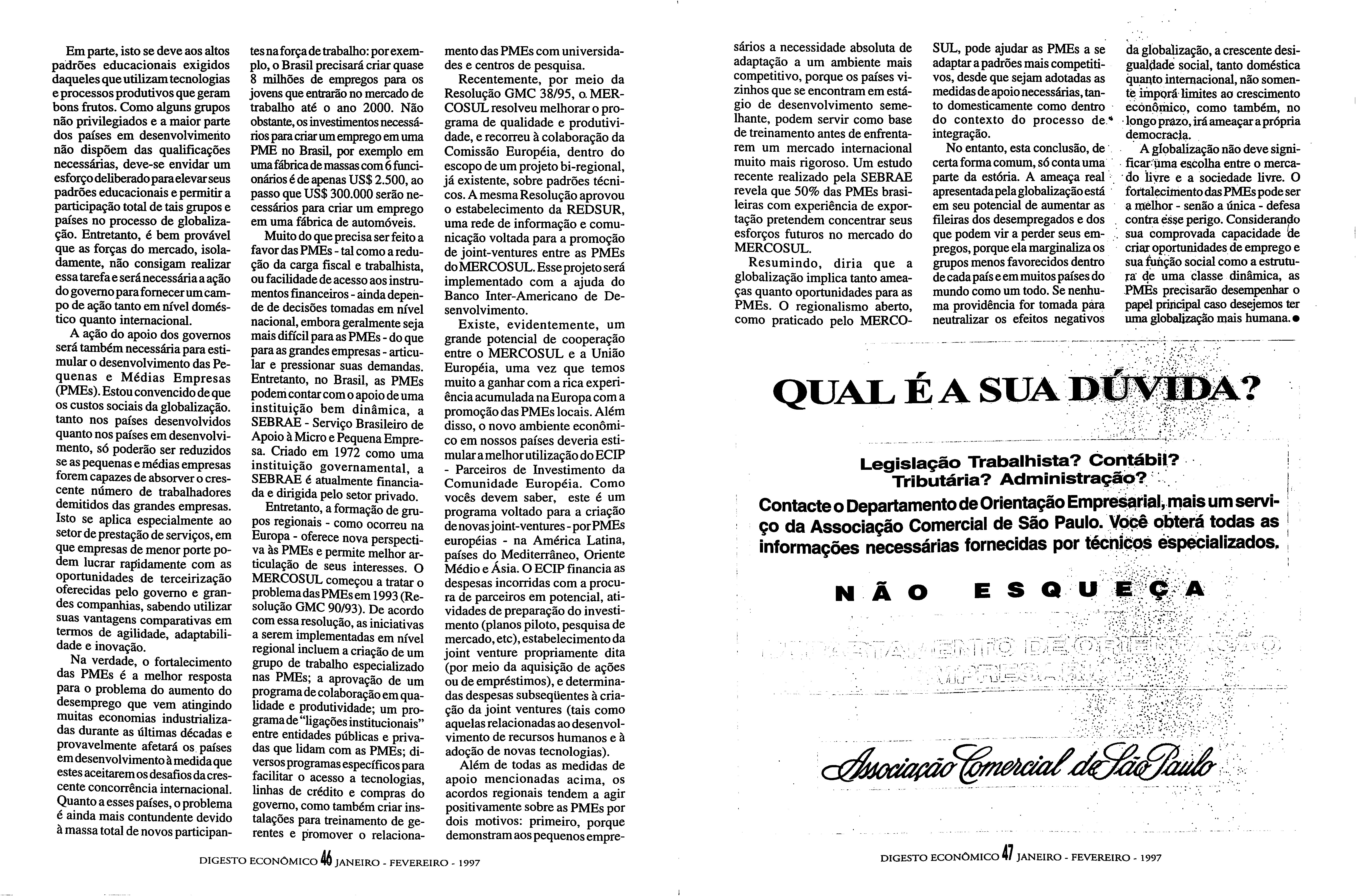
uma arum um um pro grama de “hgações institucionais” entre entidades públicas e priva das que hdam com as PMEs; di versos programas específicos para facüitar o acesso a tecnologias. Unhas de crédito e compras do governo, como também criar ins talações para treinamento de ge rentes e promover o relacionaECONÔMICO
Existe, evidentemente, um grande potencial de cooperação entre o MERCOSUL e a União Européia, uma vez que temos muito a ganhar com a irca experi ência acumulada na Europa com a promoção das PMEs locais. Além disso, o novo ambiente econômi co em nossos países deveria esti mular a melhor utilização do ECIP - Parceiros de Investimento da Comunidade Européia. Como vocês devem saber, este é um programa voltado para a criação de novas joint-ventures - por PMEs européias - na América Latina, países do Mediterrâneo, Oriente Médio e Ásia. O ECIP financia as despesas incorridas com a procu ra de parceiros em potencial, ati vidades de preparação do investi mento (planos piloto, pesquisa de mercado, etc), estabelecimento da joint venture propriamente dita (por meio da aquisição de ações ou de empréstimos), e determina das despesas subseqüentes à cria ção da joint ventures (tais como aquelas relacionadas ao desenvol vimento de recursos humanos e à adoção de novas tecnologias). Além de todas as medidas de apoio mencionadas acima, os acordos regionais tendem a agir positivamente sobre as PMEs por dois motivos: primeiro, porque demonstram aos pequenos empre-
sários a necessidade absoluta de adaptação a um ambiente mais competitivo, porque os países vi zinhos que se encontram em está gio de desenvolvimento seme lhante, podem servir como base de treinamento antes de enfrenta rem um mercado internacional muito mais rigoroso. Um estudo recente realizado pela SEBRAE revela que 50% das PMEs brasi leiras com experiência de expor tação pretendem concentrar seus esforços futuros no mercado do MERCOSUL.
Resumindo, diria que a globalização implica tanto amea ças quanto oportunidades para as PMEs. O regionalismo aberto, como praticado pelo MERCO¬
SUL, pode ajudar as PMEs a se da globalização, a crescente desiadaptar a padrões mais competiti- gualdade social, tanto doméstica vos, desde que sejam adotadas as quaqto internacional, não somenmedidas de apoio necessárias, tan- té imporá limites ao crescimento to domesticamente como dentro econômico, como também, no do contexto do processo de.** longo prázo, irá ameaçar a própria integração. democracia.
No entanto, esta conclusão, de A globalização não deve signicerta forma comum, só conta uma ficar üma escolha entre o mercaparte da estória. A ameaça real do íiyre e a sociedade livre. O apresentada pela globalização está fortalecimento das PMEs pode ser em seu potencial de aumentar as a melhor - senão a única - defesa fileiras dos desempregados e dos contra esse perigo. Considerando que podem vir a perder seus em- . sua comprovada capacidade Ide pregos, porque ela marginaliza os criar oportunidades de emprego e grupos menos favorecidos dentro sua otção social como a estrutude cada país e em muitos países do ra de uma classe dinâmica, as mundo como um todo. Se nenhu- PMEs precisarão desempenhar o ma providência for tomada pára papel principal caso desejemos ter neutralizar os efeitos negativos uma globalização mais humana.#
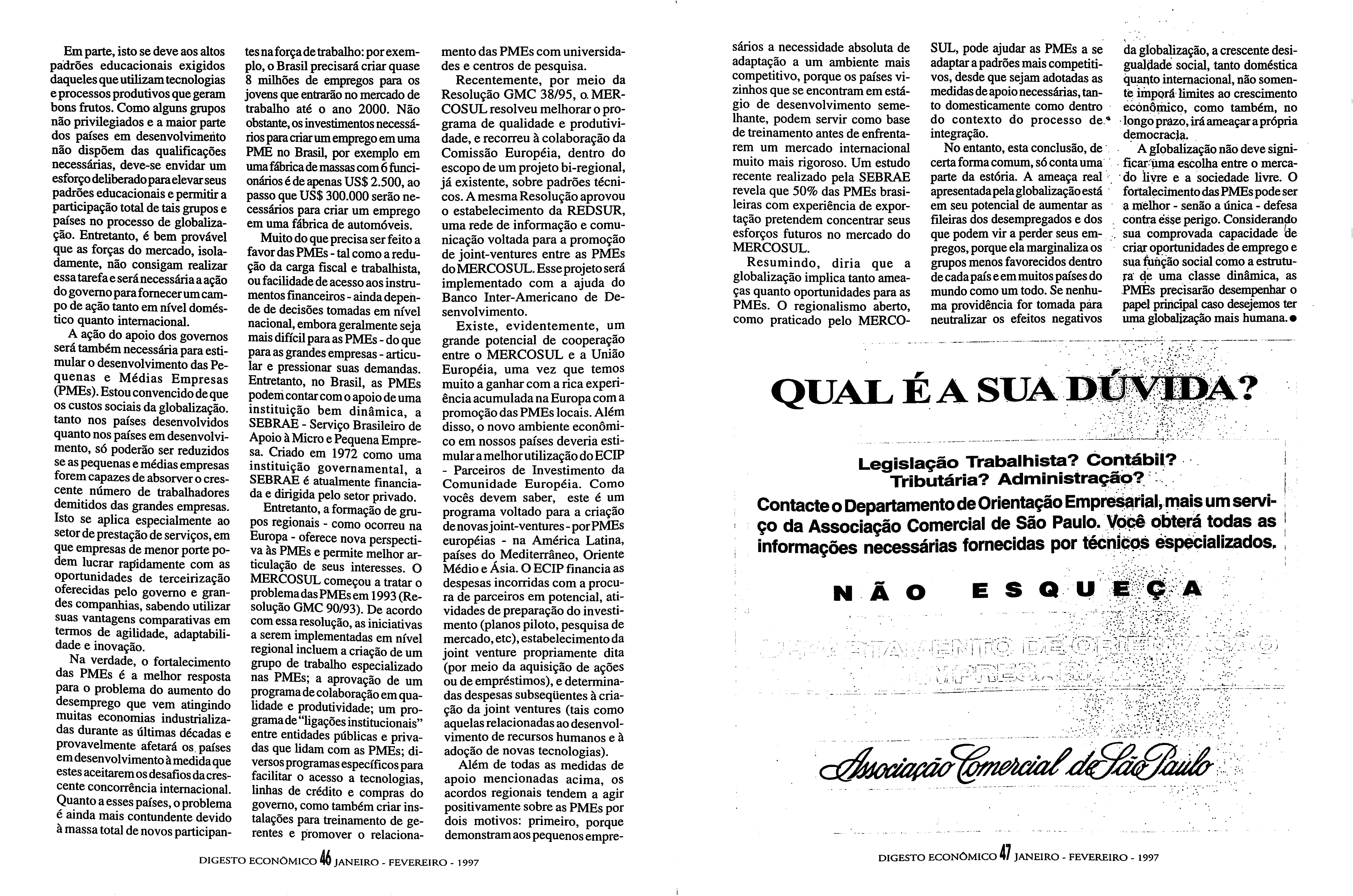
Contacte o Departamento de Orientação Empredrial» mais um servi ço da Associação Comercial de São Paulo. VP<pê obterá todas as informações necessárias fornecidas por téchlcçs éspecializados.
A taxa de 2% é considerada apropriada ao desemprego
DESEMPREGO DE 5% NÂO É COISA NATURAL
Robert Kuttner
Publicista, USA c
om a taxa de desemprego ca indo para 5% nacionalmen te, começamos a observar pe quenos aumentos na renda média familiar. Os adversários radicais da inflação começam a se preocu par. Mas suponha que o desem prego fique realmente baixo - di gamos 2% ou 3%.
Há mais de uma dúzia de áreas metropolitanas onde o desempre go está abaixo de 2,5% - e elas proporcionam interessantes labo ratórios. Locais como Madison, Wisconsin; Sioux Falis, Dakota do Sul; Lexington, Kentucky; Omaha e Lincoln, Nebraska; e Bismarck e Fargo, Dakota do Norte, estão todos efetivamente em pleno emprego. E, na maioria deles, os salários não estão tendo grandes aumentos nem há inflação.
Contrariando o modelo de uma “taxa natural” de desemprego nãoinflacionária, os empregadores
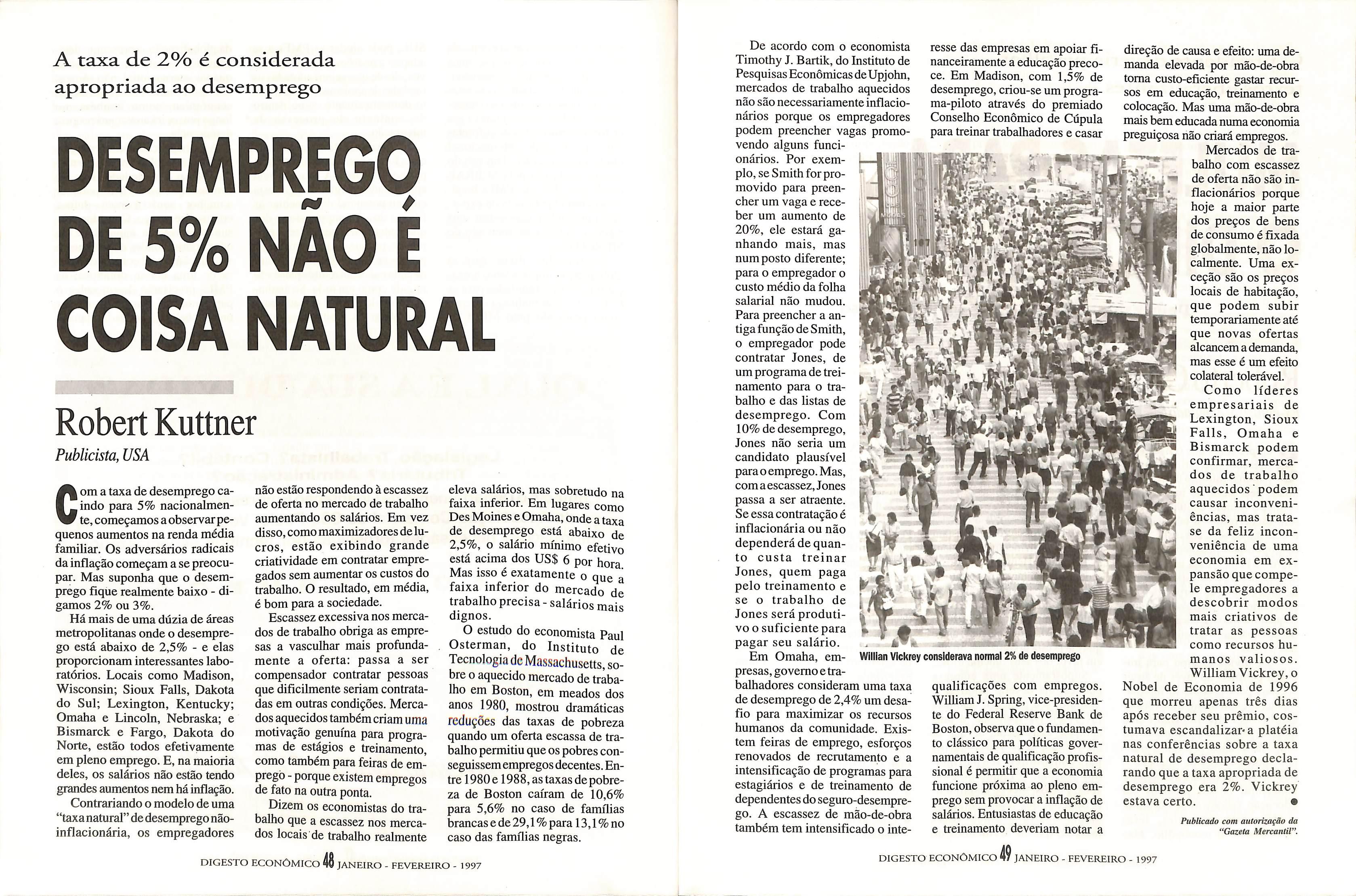
não estão respondendo à escassez eleva salários, mas sobretudo de oferta no mercado de trabalho faixa inferior. Em lugares aumentando os salários. Em vez Des Moines e Omaha, onde a taxa disso, como maximizadores de lu- de desemprego está abaixo de cros, estão exibindo grande 2,5%, o salário nnnimo efetivo criatividade em contratar empre- está acima dos US$ 6 por hora gados sem aumentar os custos do Mas isso é exatamente o que a trabalho. O resultado, em média, faixa inferior do mercado de é bom para a sociedade. trabalho precisa - salários mais
na como de Tecnologia de Massachusetts_ _ bre o aquecido mercado de traba lho em Boston, em meados dos anos 1980, mostrou dramáticas so-
Escassez excessiva nos merca- dignos. dos de trabalho obriga as empre- O estudo do economista Paul sas a vasculhar mais profunda- Osterman, do Instituto mente a oferta: passa a ser compensador contratar pessoas que dificilmente seriam contrata das em outras condições. Merca dos aquecidos também criam uma reduções das taxas de pobreza motivaçao genuína para progra- quando um oferta escassa de tra mas de estágios e treinamento, balho permitiu que os pobres con- como também para feiras de em- seguissem empregos decentes. En- pregò - porque existem empregos tre 1980 e 1988, as taxas depobre- de fato na outra ponta. za de Boston caíram de 10,6%
Dizem os economistas do tra- para 5,6% no caso de famílias balho que a escassez nos merca- brancasede29,1%para 13,l%no dos locais de trabalho realmente caso das famílias negras.
De acordo com o economista
Timothy J. Bartik, do Instituto de Pesquisas Econômicas de Upjohn, mercados de trabalho aquecidos não são necessariamente inflacio nários porque os empregadores podem preencher vagas promo vendo alguns funci onários. Por exem plo, se Smith for pro movido para preen cher um vaga e rece ber um aumento de 20%, ele estará ga nhando mais, mas num posto diferente; para o empregador o custo médio da folha salarial não mudou. Para preencher a an tiga função de Smith, o empregador pode contratar Jones, de um programa de trei namento para o tra balho e das listas de desemprego. Com 10% de desemprego, Jones não seria um candidato plausível para o emprego. Mas, com a escassez, Jones passa a ser atraente. Se essa contratação é inflacionária ou não dependerá de quan to custa treinar Jones, quem paga pelo treinamento e se o trabalho de Jones será produti vo o suficiente para pagar seu salário.
resse das empresas em apoiar fi nanceiramente a educação preco ce. Em Madison, com 1,5% de desemprego, criou-se um programa-piloto através do premiado Conselho Econômico de Cúpula para treinar trabalhadores e casar
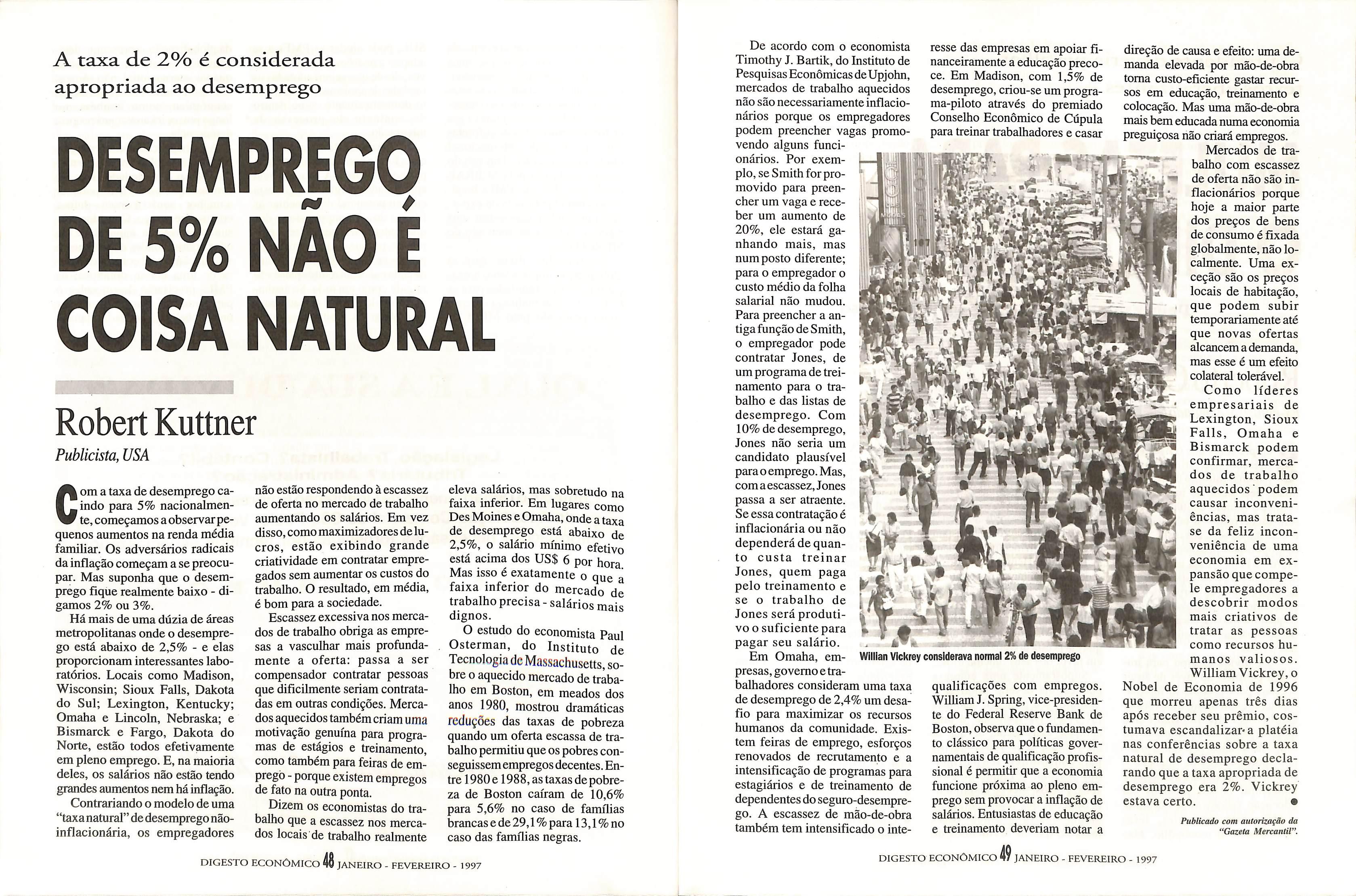
Em Omaha, em- Widían Vickrey considerava normal 2% de desemprego presas, governoe tra balhadores consideram uma taxa de desemprego de 2,4% um desa fio para maximizar os recursos humanos da comunidade. Exis tem feiras de emprego, esforços renovados de recrutamento e a intensificação de programas para estagiários e de treinamento de dependentes do seguro-desemprego. A escassez de mão-de-obra também tem intensificado o inte¬
direção de causa e efeito: uma de manda elevada por mão-de-obra toma custo-eficiente gastar recur sos em educação, treinamento e colocação. Mas uma mão-de-obra mais bem educada numa economia preguiçosa não criará empregos. Mercados de tra balho com escassez de oferta não são in flacionários porque hoje a maior parte dos preços de bens de consumo é fixada globalmente, não lo calmente. Uma ex ceção são os preços locais de habitação, que podem subir temporariamente até que novas ofertas alcancem a demanda, mas esse é um efeito colateral tolerável. Como líderes empresariais de Lexington, Sioux Falis, Bismarck podem confirmar, merca dos de trabalho aquecidos podem causar inconveni ências, mas tratase da feliz incon veniência de uma economia em ex pansão que compe le empregadores a descobrir modos mais criativos de tratar as pessoas como recursos hu manos valiosos. William Vickrey, o Nobel de Economia de 1996 que morreu apenas três dias após receber seu prêmio, cos tumava escandalizapa platéia nas conferências sobre a taxa natural de desemprego decla rando que a taxa apropriada de desemprego era 2%. Vickrey estava certo. ®
Omaha e
qualificações com empregos. William J. Spring, vice-presiden te do Federal Reserve Bank de Boston, observa que o fundamen to clássico para políticas gover namentais de qualificação profis sional é permitir que a economia funcione próxima ao pleno em prego sem provocar a inflação de salários. Entusiastas de educação e treinamento deveriam notar a Publicado com autorização da “Gazeta Mercantil”.
O presidente deveria perfilhar
textos liberalizantes
MULETAS PARA 0 DINOSSAURO m i
// Deus está nos detalhes". Guimarães Roso
Roberto Campos
Ex~ministro; deputadofederal
sempre achei que o Brasil e o México não atingiriam o patamar mínimo de raciona lidade necessário áo ingresso no Primeiro Mundo enquanto ficas sem escravizados a tabus da era fetichista, ou seja, aos respectivos monopólios de pçtróleo - a Petros sauro e a Pemex. Está, um depósito de ineficiência e corrupção. Aque la, uma matriz de corporativismo predatório. Com a agravante de que, enquanto o México encampou pro dução existente, o Brasil monopoKzou o irsco.
Criar dívida externa para im portar petróleo, ao invés de atrair capitais para produzi-lo intemamente, e, além disso, transformar essa burrice em patriotismo, é uma agressão à lógica econômica. Ao longo de 44 anos, perdemos gran des oportunidades de financiar o petróleo com poupança externa, e concentrar nossos recursos em educação, saúde e infra-estrutura.
Hoje está (ou antes, será) flexibilizado o monopólio. Mas
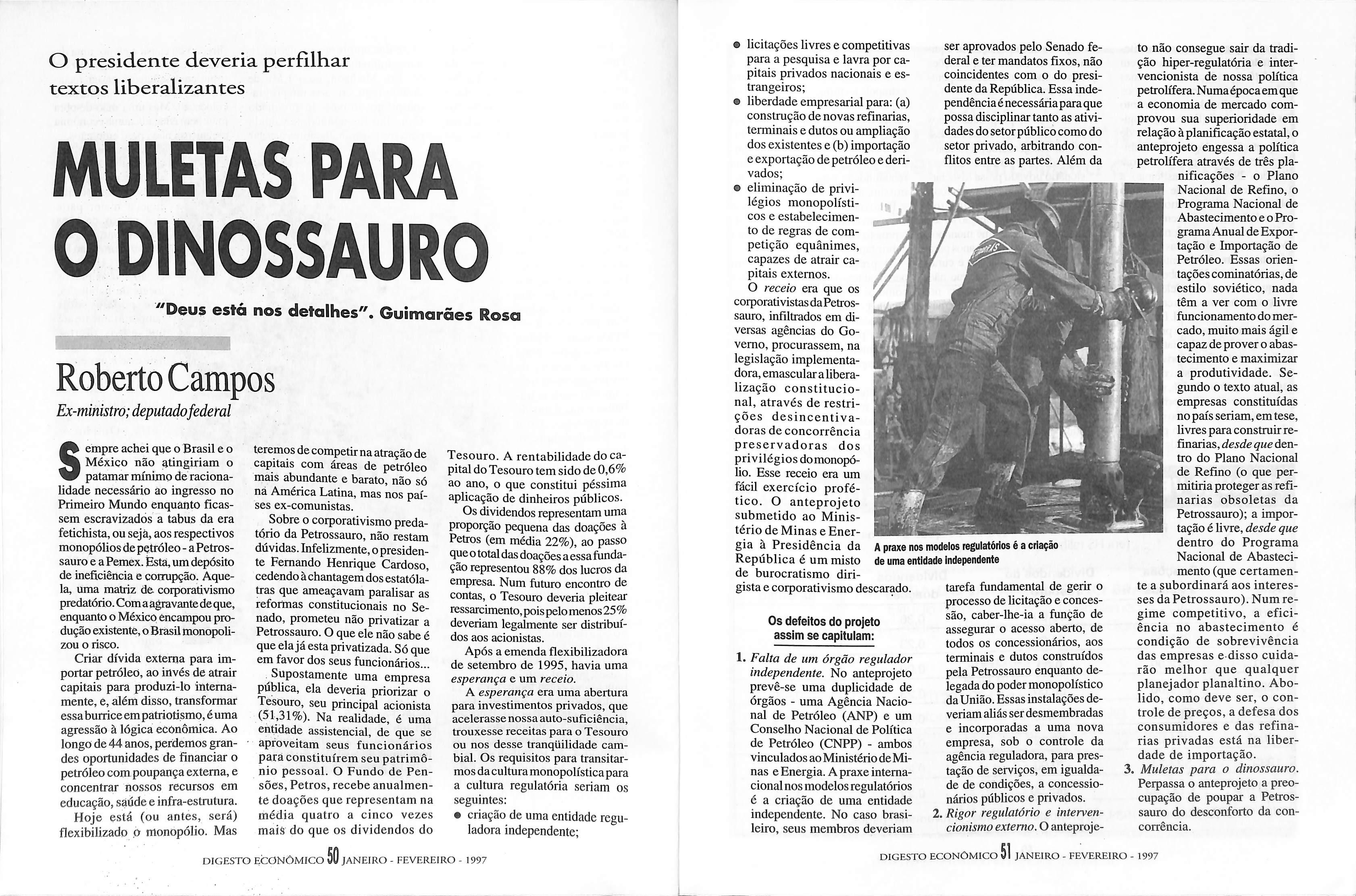
teremos de competir na atração de capitais com áreas de petróleo mais abundante e barato, não só na América Latina, mas nos paí ses ex-comunistas.
Sobre o corporativismo preda tório da Petrossauro, não restam dúvidas. Infelizmente, o presiden te Fernando Henrique Cardoso, cedendo à chantagem dos estatólatras que ameaçavam paralisar as reformas constitucionais no Se nado, prometeu não privatizar a Petrossauro. O que ele não sabe é que ela já esta privatizada. Só que em favor dos seus funcionários...
Tesouro. A rentabilidade do ca pital do Tesouro tem sido de 0,6% ao ano, o que constitui péssima aplicação de dinheiros públicos. Os ^videndos representam uma proporção pequena das doações à Petros (em média 22%), ao passo que o total das doações a essa fiindação representou 88% dos lucros da empresa. Num futuro encontro de contas, o Tesouro deveria pleitear ressarcimento, pois pelo menos 25 % deveríam legalmente ser distiibuídos aos acionistas.
Após a emenda flexibilizadora de setembro de 1995, havia uma esperança e um receio.
A esperança era uma abertura para investimentos privados, que acelerasse nossa auto-suficiência, trouxesse receitas para o Tesouro ou nos desse tranquilidade cam bial. Os requisitos para transitar mos da cultura monopolística para a cultura regulatória seriam os seguintes:
Supostamente . uma empresa publica, ela deveria priorizar o Tesouro, seu principal acionista (51,31%). Na realidade, é entidade assistencial, de que se aproveitam seus funcionários para constituírem seu patrimô nio pessoal. O Fundo de Pen sões, Petros, recebe anualmen te doações que representam na média quatro a cinco vezes mais do que os dividendos do uma regu-
● criação de uma entidade ladora independente;
® licitações livres e competitivas para a pesquisa e lavra por ca pitais privados nacionais e es trangeiros;
® liberdade empresarial para: (a) construção de novas refinarias, terminais e dutos ou ampliação dos existentes e (b) importação e exportação de petróleo e deri vados;
® eliminação de privi légios monopolísticos e estabelecimen to de regras de com petição equânimes, capazes de atrair ca pitais externos.
O receio era que os corporativistas da Petrossauro, infiltrados em di versas agências do Go verno, procurassem, na legislação implementadora, emascular a libera lização constitucio nal, através de restri ções desincentivadoras de concorrência preservadoras dos privilégios do monopó lio. Esse receio era um fácil exercício profé tico. O anteprojeto submetido ao Minis tério de Minas e Ener gia à Presidência da República é um misto de burocratismo dirigista e corporativismo descarado.
ser aprovados pelo Senado fe deral e ter mandatos fixos, não coincidentes com o do presi dente da República. Essa independênciaénecessáriaparaque possa disciplinar tanto as ativi dades do setor público como do setor privado, arbitrando con flitos entre as partes. Além da
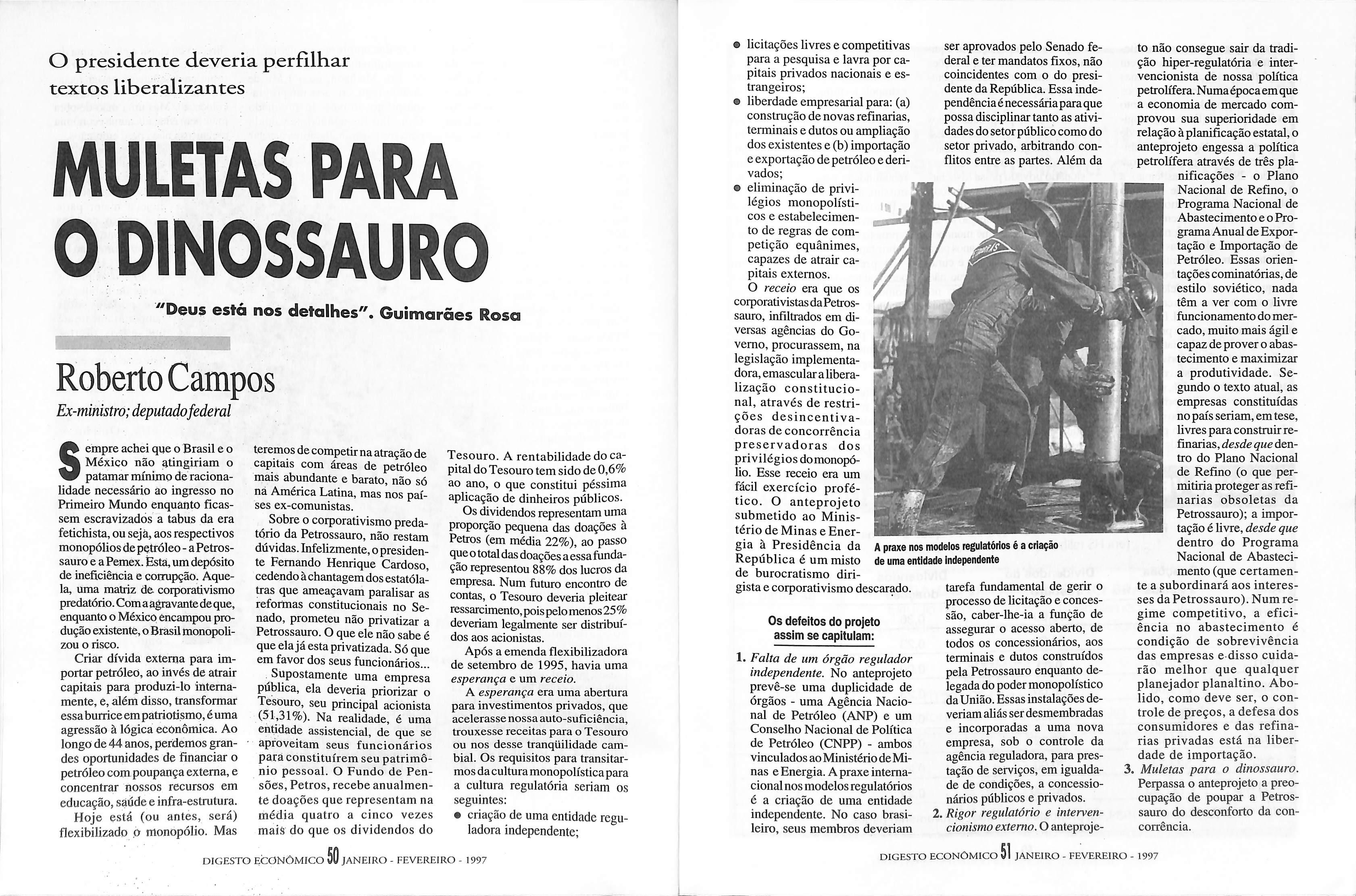
A praxe nos modelos regulatórios é a criação de uma entidade independente
Os defeitos do projeto assim se capitulam:
1. Falta de um órgão regulador independente. No anteprojeto prevê-se uma duplicidade de órgãos - uma Agência Nacio nal de Petróleo (ANP) e um Conselho Nacional de Política de Petróleo (CNPP) - ambos vinculados ao MinistériodeMi nas e Energia. A praxe interna cional nos modelos regulatórios é a criação de uma entidade independente. No caso brasi leiro, seus membros deveríam
tarefa fundamental de gerir o processo de licitação e conces são, caber-lhe-ia a função de assegurar o acesso aberto, de todos os concessionários, aos terminais e dutos construídos pela Petrossauro enquanto de legada do poder monopolístico da União. Essas instalações de veríam aliás ser desmembradas e incorporadas a uma nova empresa, sob o controle da agência reguladora, para pres tação de serviços, em igualda de de condições, a concessio nários públicos e privados.
2. Rigor regulatório e interven cionismo externo. O anteproje-
to não consegue sair da tradi ção hiper-regulatória e intervencionista de nossa poKtica petrolífera. Numa época em que a economia de mercado com provou sua superioridade em relação àplanificação estatal, o anteprojeto engessa a poKtica petrolífera através de três planificações - o Plano Nacional de Refino, o Programa Nacional de Abastecimento e o Pro grama Anual de Expor tação e Importação de Petróleo. Essas orien tações cominatórias, de estilo soviético, nada têm a ver com o Kvre funcionamento do mer cado, muito mais ágil e capaz de prover o abas tecimento e maximizar a produtividade. Se gundo 0 texto atual, as empresas constituídas no país seriam, em tese, livres para construir re finarias, desde que den tro do Plano Nacional de Refino (o que per mitiría proteger as refi narias obsoletas da Petrossauro); a impor tação é livre, desde que dentro do Programa Nacional de Abasteci mento (que certamen te a subordinará aos interes ses da Petrossauro). Num re gime competitivo, a efici ência no abastecimento é condição de sobrevivência das empresas e-disso cuida rão melhor que qualquer planejador planaltino. Abo lido, como deve ser, o con trole de preços, a defesa dos consumidores e das refina rias privadas está na liber dade de importação.
3. Muletas para o dinossauro. Perpassa o anteprojeto a preo cupação de poupar a Petros sauro do desconforto da con corrência.
Essa empresa não apenas mante rá direitos privativos sobre as em que já têm produção efetiva, mas terá prazo garantido de três anos para exploração e desenvolvimento nos “prospectos” (feições geológi cas mapeadas como resultado de interpretação geológica). Isto habiUta a Petrossauro (que só explora oito das 29 bacias brasileiras) a manter uma reserva de mercado sobre áreas muito superiores à sua capacidade de investimento; Em caso de empate nas licita ções, estas serão decididas emfavor da Petrossauro. Isso é nitidamente inconstitucional. Não cabe ao Esta do, que tem tarefas indelegáveis cumprir, substituir-se no capital pri vado na área empresarial. Em igual dade de condições deve prevalecer o princípio da livre iniciativa; Tratamento fiscal privilegiado para a Petrossauro. Esta continuará pagando royalties de 5%, enquanto que os concessionários privados te rão de pagar o dobro (não é claro a Petrossauro manterá o privilégio da isenção do Imposto de Renda e
do imposto de importação de equi pamentos de exploração, isenções que lhe aumentam o lucro dispom'vel para doações à Petros).
4. Restrições despropositadas aos concessionários privados. Édescabidaaexigênciadepréviaaprovação da ANP para que o conces sionário privado possa associarse a terceiros ou ceder, em todo ou em parte, seus direitos contratuais. Essa restrição só se ria cabível em regime monopolístico. O prazo de três anos para atividades exploratórias é curto demais para empresas que não estejam ainda implantadas no país, e contraria a praxe interna cional que prevê prazos de seis a dez anos, dependendo da nature za a acessibilidade da estmtura geológica.
Nota-se no anteprojeto uma disposição de avançar além do prometido pelo presidente da Re pública em sua desastrosa carta (agosto de 95) ao Senado federal.
Ele declarou não pretender, du rante seu tucanato, privatizar a Petrossauro. Mas o anteprojeto extrapola ao tomar mandatória, por lei, a manutenção do controle esta tal. Isso engessa a ação de futuros governos, que podem preferir redu zir 0 endividamento estatal a con trolar uma empresa de baixíssima rentabilidade para o Tesouro. Outrossim, a reserva de mercado para a Petrossauro se referia apenas à áreas em efetiva exploração. O an teprojeto amplia essa reserva para cobrir tambérn os “prospectos”.
O presidente bem faria em perfilhar textos mais liberalizantes como os de seus correligionários tucanos - Márcio Fortes e Eduar do Mascarenhas - muito mais ade quados para a atração de novos investimentos e para nossa independização do abastecimento extemo.
O anteprojeto é libertário ape nas na retórica. Quando a gente desce aos detalhes, a coisa é dife rente. E, como diz Guimarães Rosa, “Deus está nos detalhes”...*
Petrobrás: dividendos do tesouro e doações à Petros (em R$ milhões, salvo quando indicado) Dividendos do
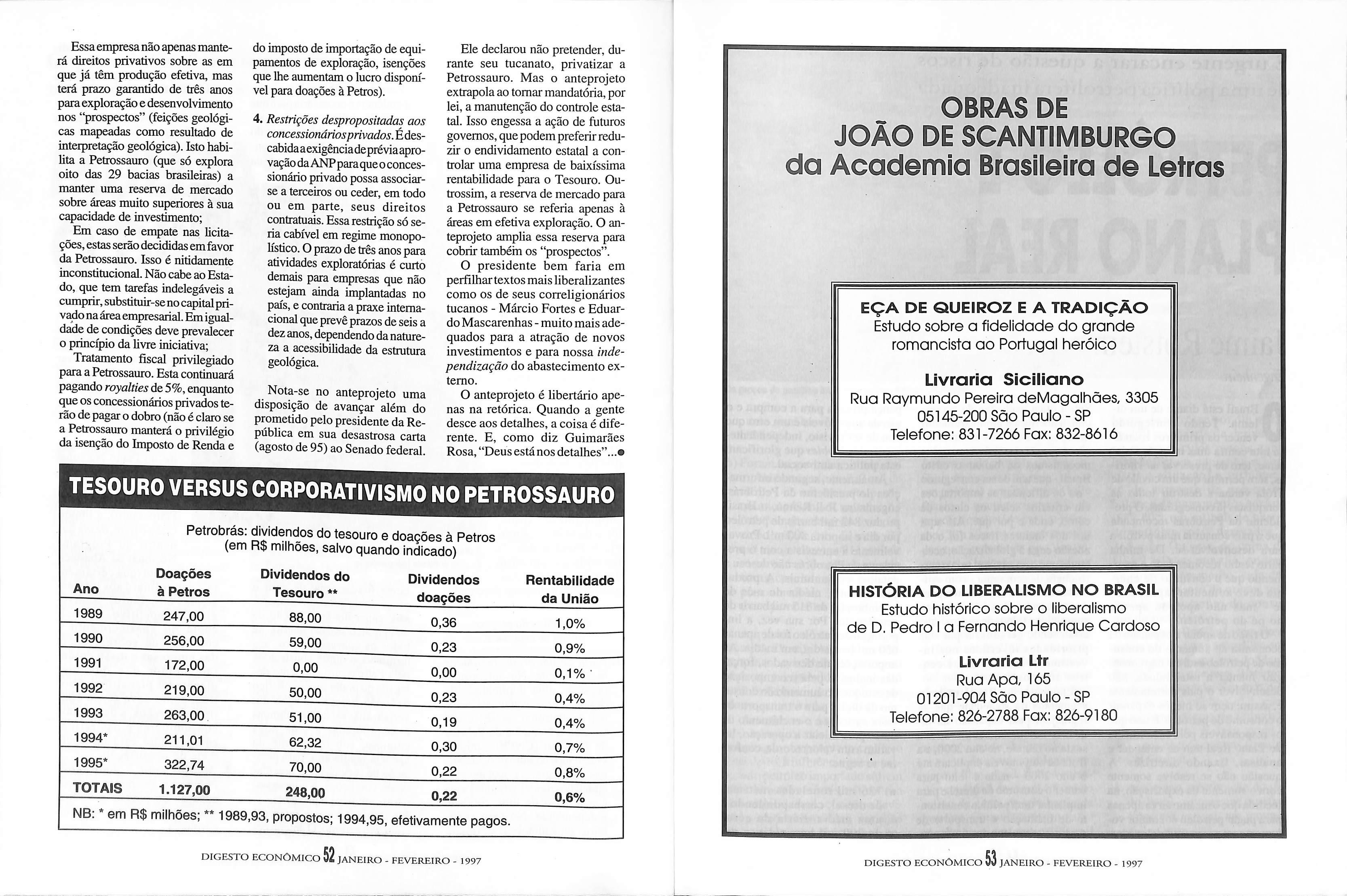
1989,93, propostos; 1994,95, efetivamente
NB: * em R$ milhões; ifk pagos.
OBRAS DE JOÃO DE SCANTIMBURGO da
Academia Brasileira de Letras
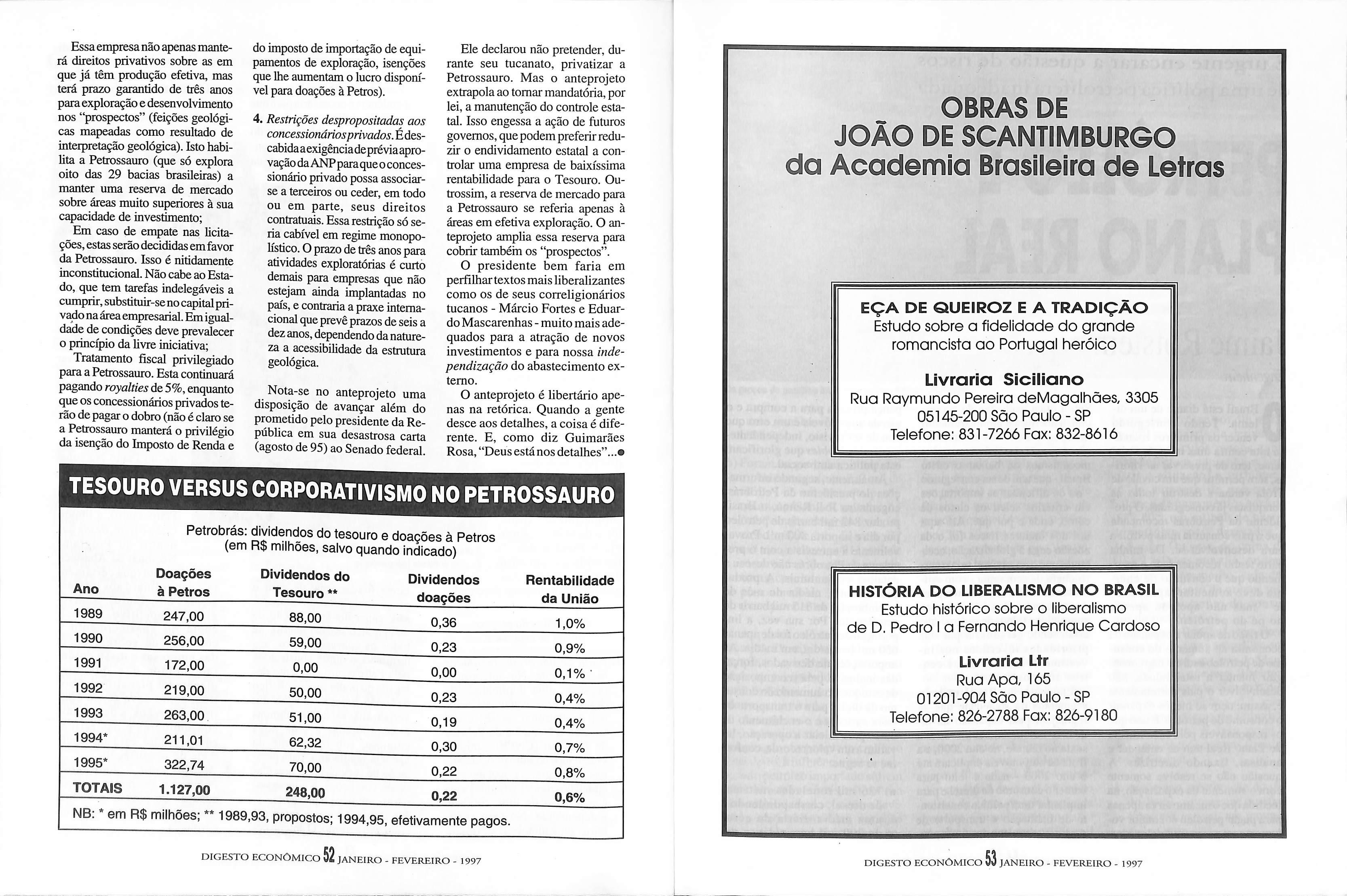
EÇA DE QUEIROZ E A TRADIÇÃO
Estudo sobre a fidelidade do grande romancista ao Portugal heróico
Livraria Siciliano
Rua Raymundo Pereira deMagalhões, 3305 05145-200 São Paulo - SP
Telefone: 831-7266 Fax: 832-8616
HISTÓRIA DO LIBERALISMO NO BRASIL
Estudo histórico sobre o liberalismo de D. Pedro a Fernando Henrique Cardoso
Livraria Ltr Rua Apa, 165 01201-904 São Paulo-SP
Telefone: 826-2788 Fax: 826-9180
É urgente encarar de uma política petrolífera inadequada
a PETROLEO PLANO REAL
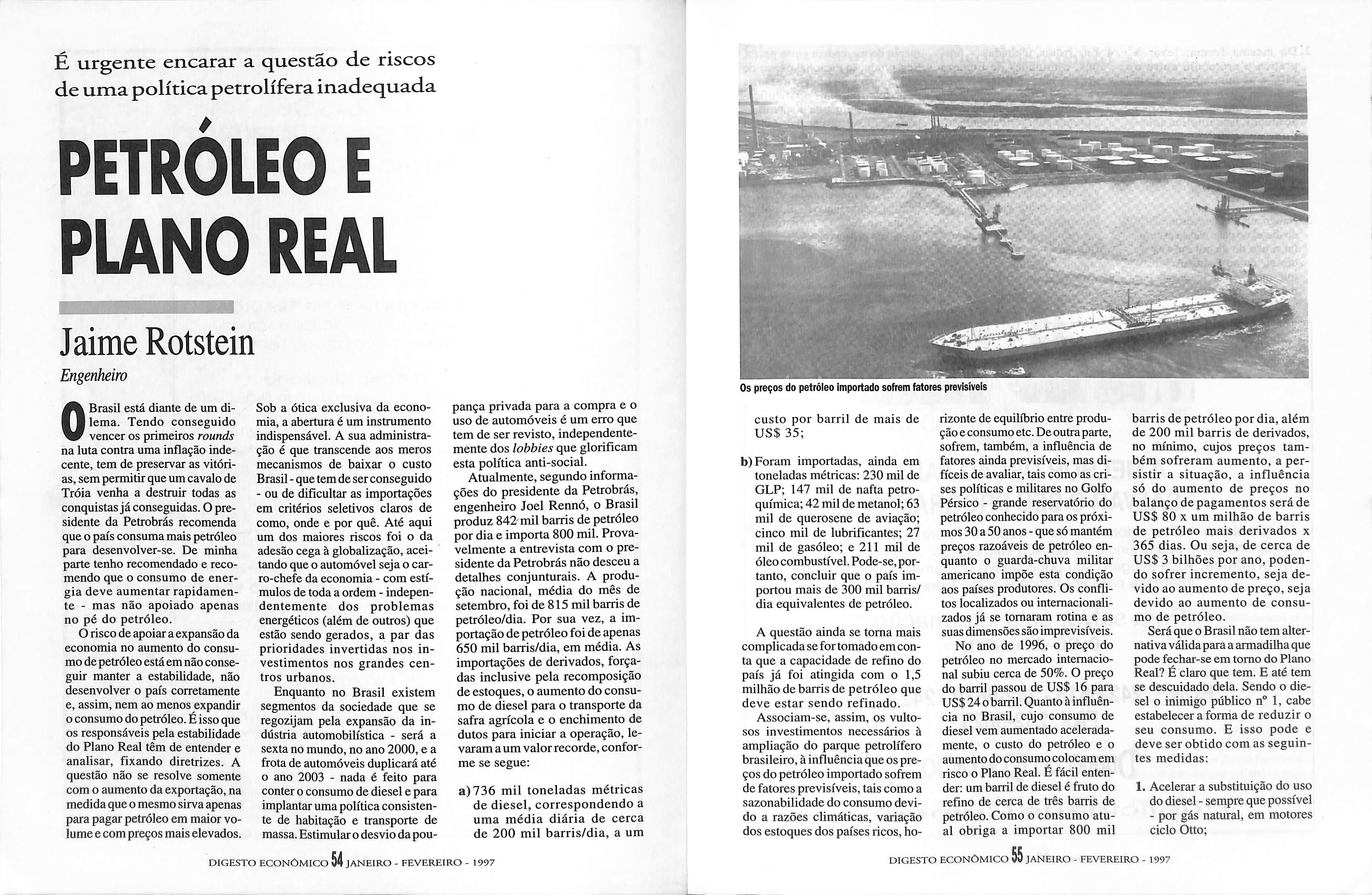
Jaime Rotstein
Engenheiro
Brasil está diante de um di lema. Tendo conseguido vencer os primeiros rounds na luta contra uma inflação inde cente, tem de preservar as vitóri as, sem permitir que um cavalo de Tróia venha a destruir todas as conquistas já conseguidas. O pre sidente da Petrobrás recomenda que o país consuma mais petróleo para desenvolver-se. De minha parte tenho recomendado e reco mendo que o consumo de ener gia deve aumentar rapidamen te - mas não apoiado apenas no pé do petróleo.
O risco de apoiar a expansão da economia no aumento do consu mo de petróleo está em não conse guir manter a estabihdade, não desenvolver o país corretamente e, assim, nem ao menos expandir o consumo do petróleo. É isso que os responsáveis pela estabilidade do Plano Real têm de entender e analisar, fixando diretrizes. A questão não se resolve somente com o aumento da exportação, na medida que o mesmo sirva apenas para pagar petróleo em maior vo lume e com preços mais elevados.
Sob a ótica exclusiva da econo mia, a abertura é um instrumento indispensável. A sua administra ção é que transcende aos meros mecanismos de baixar o custo Brasil - que tem de ser conseguido - ou de dificultar as importações em critérios seletivos claros de como, onde e por quê. Até aqui um dos maiores riscos foi o da adesão cega à globalização, acei tando que o automóvel seja o car ro-chefe da economia - com estí mulos de toda a ordem - indepen dentemente dos problemas energéticos (além de outros) que estão sendo gerados, a par das prioridades invertidas nos in vestimentos nos grandes cen tros urbanos.
Enquanto no Brasil existem segmentos da sociedade que se regozijam pela expansão da in dústria automobilística - será a sexta no mundo, no ano 2000, e a frota de automóveis duplicará até o ano 2003 - nada é feito para conter o consumo de diesel e para implantar uma política consisten te de habitação e transporte de massa. Estimular o desvio da pou-
pança privada para a compra e o uso de automóveis é um erro que tem de ser revisto, independente mente dos lobbies que glorificam esta política anti-social. Atualmente, segundo informa ções do presidente da Petrobrás, engenheiro Joel Rennó, o Brasil produz 842mil barris de petróleo por dia e importa 800 mil. Prova velmente a entrevista com o pre sidente da Petrobrás não desceu a detalhes conjunturais. A produ ção nacional, média do mês de setembro, foi de 815 mil barris de petróleo/dia. Por sua vez, a im portação de petróleo foi de apenas 650 mil barris/dia, em média. As importações de derivados, força das inclusive pela recomposição de estoques, o aumento do consu mo de diesel para o transporte da safra agrícola e o enchimento de dutos para iniciar a operação, le varam a um valor recorde, confor me se segue:
a) 736 mil toneladas métricas de diesel, correspondendo a uma média diária de cerca de 200 mil barris/dia, a um
Os preços do petróleo importado sofrem fatores previsíveis
custo por barril de mais de US$ 35;
b) Foram importadas, ainda em toneladas métricas: 230 mil de GLP; 147 mil de nafta petro química; 42 mil de metanol; 63 mil de querosene de aviação; cinco mil de lubrificantes; 27 mil de gasóleo; e 211 mil de óleo combustível. Pode-se, por tanto, concluir que o país im portou mais de 300 mil barris/ dia equivalentes de petróleo.
A questão ainda se toma mais complicada se for tomado em con ta que a capacidade de refino do país já foi atingida com o 1,5 milhão de barris de petróleo que deve estar sendo refinado.
Associam-se, assim, os vulto sos investimentos necessários à ampliação do parque petrolífero brasileiro, à influência que os pre ços do petróleo importado sofrem de fatores previsíveis, tais como a sazonabilidade do consumo devi do a razões climáticas, variação dos estoques dos países ricos, ho-
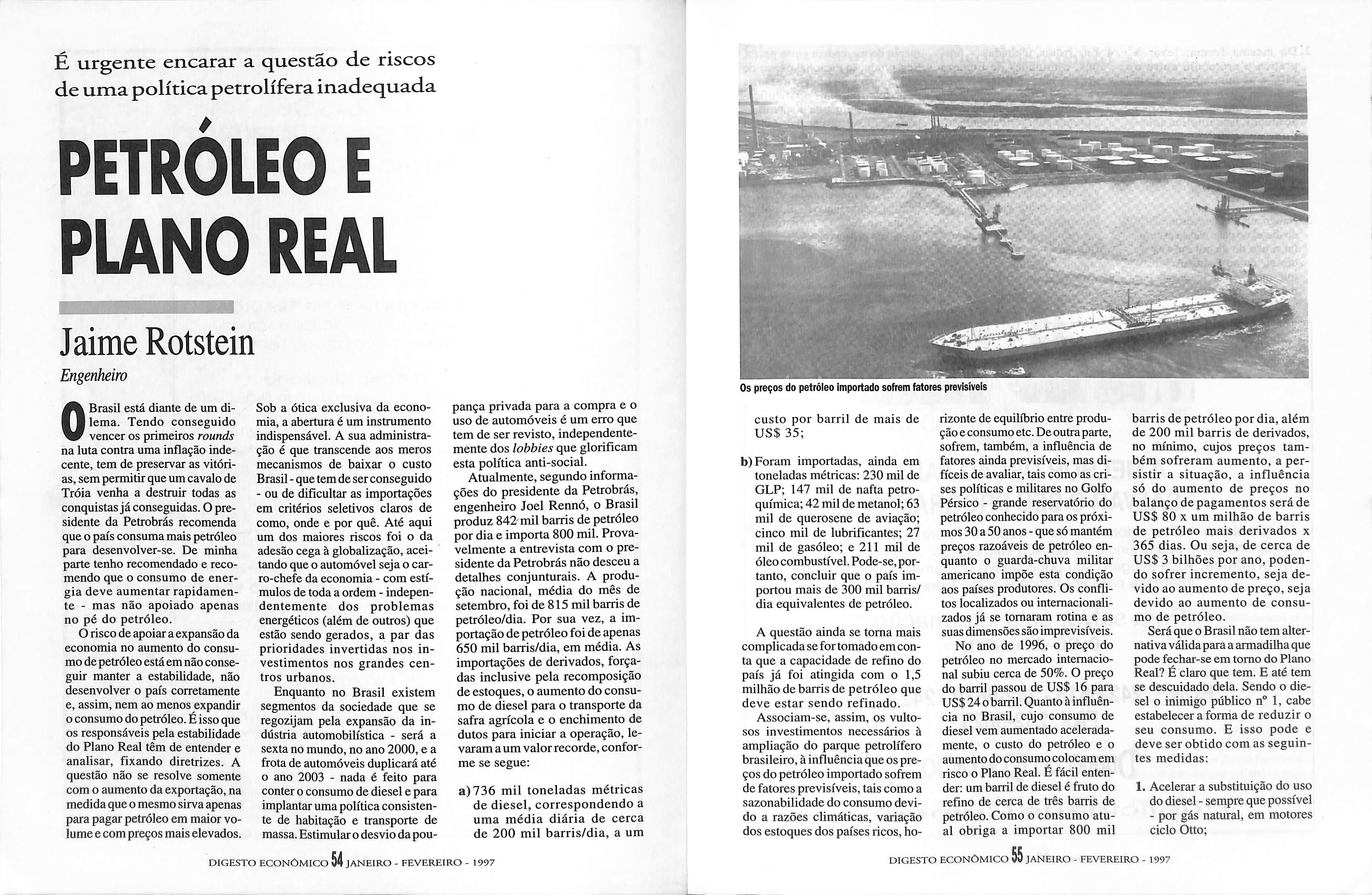
rizonte de equilíbrio entre produ ção e consumo etc. De outra parte, sofrem, também, a influência de fatores ainda previsíveis, mas di fíceis de avaliar, tais como as cri ses políticas e militares no Golfo Pérsico - grande reservatório do petróleo conhecido para os próxi mos 30 a 50 anos - que só mantém preços razoáveis de petróleo en quanto 0 guarda-chuva militar americano impõe esta condição aos países produtores. Os confli tos localizados ou internacionali zados já se tomaram rotina e as suas dimensões são imprevisíveis. No ano de 1996, o preço do petróleo no mercado internacio nal subiu cerca de 50%. O preço do barril passou de US$ 16 para US$ 24 o barril. Quanto à influên cia no Brasil, cujo consumo de diesel vem aumentado aceleradamente, o custo do petróleo e o aumento do consumo colocam em A risco 0 Plano Real. E fácil enten der: um barril de diesel é fruto do refino de cerca de três barris de petróleo. Como o consumo atu al obriga a importar 800 mil
barris de petróleo por dia, além de 200 mil barris de derivados, no mínimo, cujos preços tam bém sofreram aumento, a per sistir a situação, a influência só do aumento de preços no balanço de pagamentos será de US$ 80 X um milhão de barris de petróleo mais derivados x 365 dias. Ou seja, de cerca de US$ 3 bilhões por ano, poden do sofrer incremento, seja de vido ao aumento de preço, seja devido ao aumento de consu mo de petróleo.
Será que o Brasil não tem alter nativa válida para a armadilha que pode fechar-se em tomo do Plano Real? É claro que tem. E até tem se descuidado dela. Sendo o die sel o inimigo público n° 1, cabe estabelecer a fomia de reduzir o seu consumo. E isso pode e deve ser obtido com as seguin tes medidas:
1. Acelerar a substituição do uso do diesel - sempre que possível - por gás natural, em motores ciclo Otto;
2. Da mesma forma, levar à prática o protocolo entre o MIC e as montadoras, assi nado em 1978, estabelecen do as premissas para o uso de álcool. Isso implica subs tituir parte do consumo do diesel por álcool em moto res ciclo Otto - ampliando e não reduzindo a produção de álcool;
4. Em frotas fechadas - ôni bus, caminhões de limpeza urbana etc. - utilizar moto res ciclo Otto, movendo-os a gasolina, vendida, no caso, apreços energeticamente se melhantes ao dos veículos movidos a diesel;
mento do mercado a curto prazo. Se a produção nacional passar de 840 mil para um milhão de barris de petróleo por dia, isso significa ria um acréscimo, na disponibili dade de diesel, de cerca de 60 mil barris por dia.
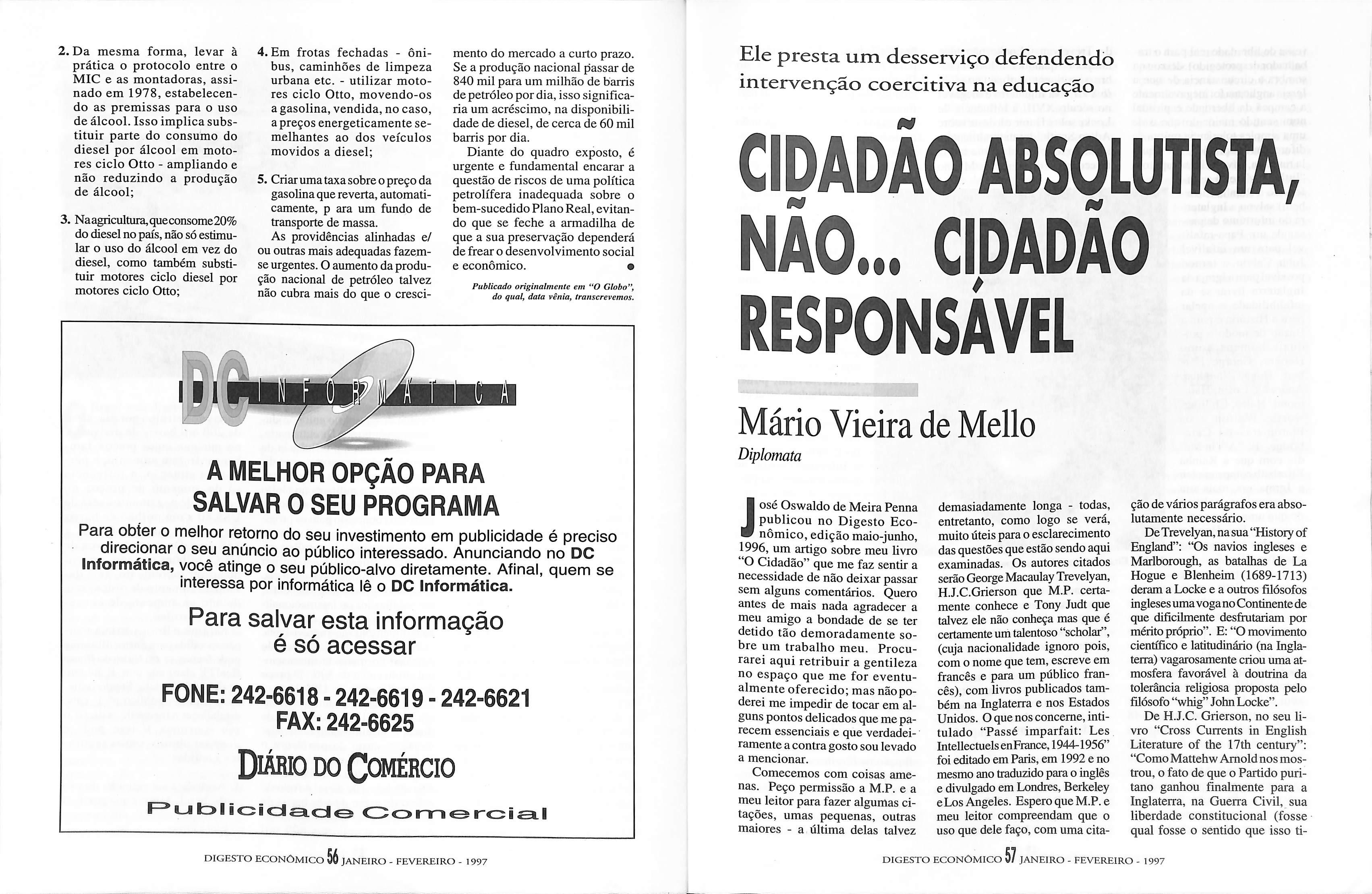
5. Criar uma taxa sobre o preço da gasolina que reverta, automati camente, p ara um fundo de transporte de massa. As providências alinhadas e/ ou outras mais adequadas fazemse urgentes. O aumento da produ ção nacional de petróleo talvez não cubra mais do que o cresci-
Diante do quadro exposto, é urgente e fundamental encarar a questão de irscos de uma política petrolífera inadequada sobre o bem-sucedido Plano Real, evitan do que se feche a armadilha de que a sua preservação dependerá de frear o desenvolvimento social e econômico. ●
3. Naagricultura,queconsome20% do diesel no país, não só estimu lar o uso do álcool em vez do diesel, como também substi tuir motores ciclo diesel por motores ciclo Otto; Publicado oríginalmente em “O Globo", do qual, dala vênia, transcrevemos.
A MELHOR OPÇÃO PARA SALVAR 0 SEU PROGRAMA
Para obter o melhor retorno do seu investimento em publicidade é preciso direcionar o seu anúncio ao público interessado. Anunciando no DC Bnformatica, você atinge o seu público-alvo diretamente. Afinal, quem se interessa por informática lê o DC Informática.
Ele presta um desserviço defendendo intervenção coercitiva na educação
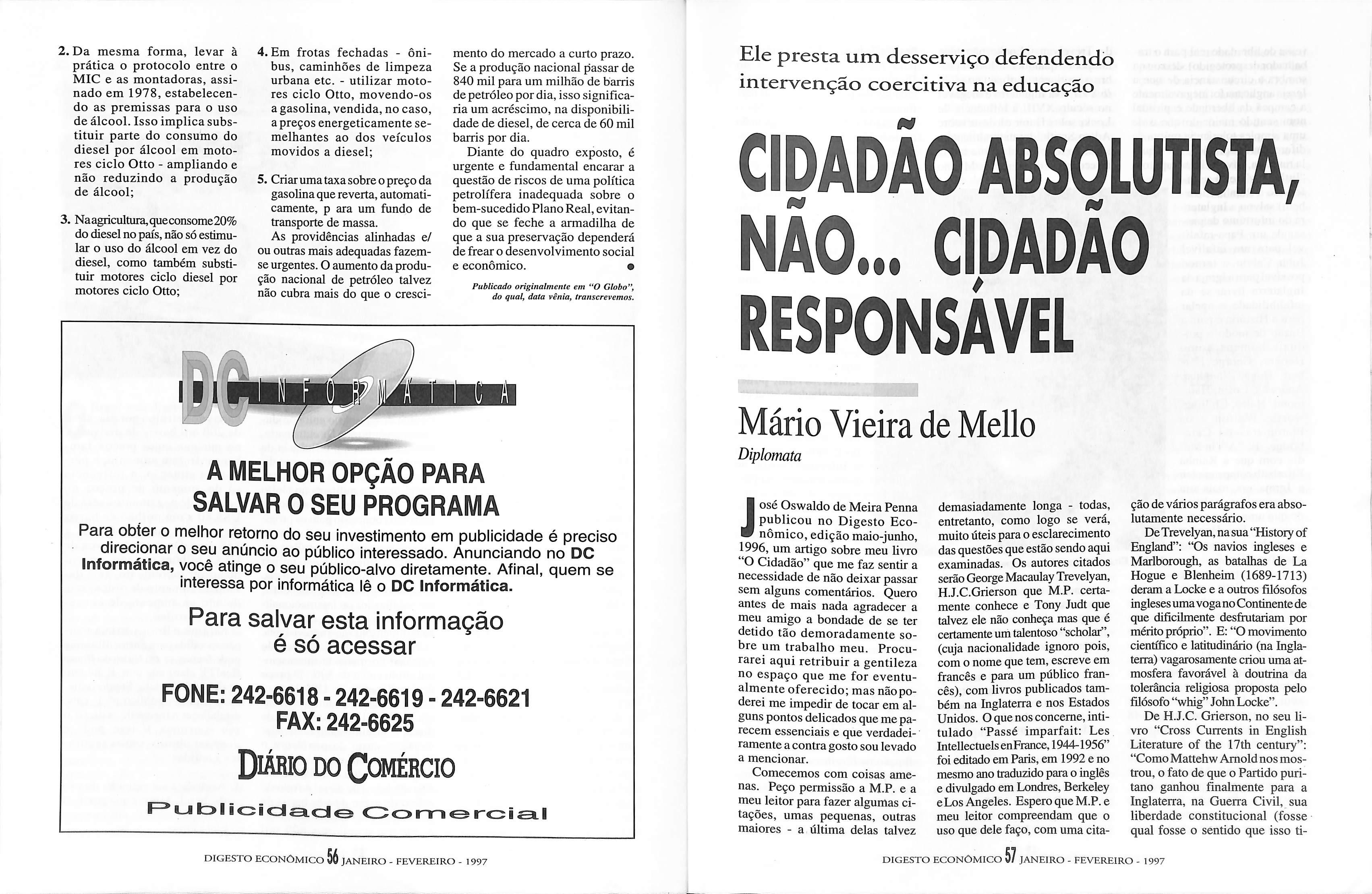
CIDADAO
RESPONSÁVEL
Viário Vieira de Mello
Diplomata J
osé Oswaldo de Meira Penna publicou no Digesto Eco nômico, edição maio-junho, 1996, um artigo sobre meu livro O Cidadão” que me faz sentir a necessidade de não deixar passar sem alguns comentários. Quero antes de mais nada agradecer meu amigo a bondade de se ter detido tão demoradamente bre um trabalho meu. Procu rarei aqui retribuir a gentileza no espaço que me for eventu almente oferecido; mas não po derei me impedir de tocar em al guns pontos delicados que me pa recem essenciais e que verdadei ramente a contra gosto sou levado a mencionar. Comecemos
demasiadamente longa - todas, entretanto, como logo se verá, muito úteis para o esclarecimento das questões que estão sendo aqui examinadas. Os autores citados serão George Macaulay Trevelyan, H.J.C.Grierson que M.P. certa mente conhece e Tony Judt que talvez ele não conheça mas que é certamente um talentoso “scholar ’, (cuja nacionalidade ignoro pois, com o nome que tem, escreve em francês e para um público fran cês), com livros publicados tam bém na Inglaterra e nos Estados Unidos. O que nos concerne, inti tulado “Passé imparfait: Les Intellectuels enFrance, 1944-1956” foi editado em Paris, em 1992 e no mesmo ano traduzido para o inglês e divulgado em Londres, Berkeley eLos Angeles. Espero que M.P. e meu leitor compreendam que o uso que dele faço, com uma citaa socom coisas ame nas. Peço permissão a M.P. e a meu leitor para fazer algumas ci tações, umas pequenas, outras maiores - a última delas talvez
ção de vários parágrafos era abso lutamente necessário.
DeTrevelyan, nasua“History of England”: “Os navios ingleses e Marlborough, as batalhas de La Hogue e Blenheim (1689-1713) deram a Locke e a outros filósofos ingleses uma voga no Continente de que dificilmente desfrutariam por mérito próprio”. E: “O movimento científico e latitudinário (na Ingla terra) vagarosamente criou uma at mosfera favorável à doutrina da tolerância religiosa proposta pelo filósofo “whig” John Locke”.
De H.J.C. Grierson, no seu li vro “Cross Currents in English Literature of the 17th century”: “Como Mattehw Amold nos mos trou, o fato de que o Partido puri tano ganhou finalmente para a Inglaterra, na Guerra Civil, sua liberdade constitucional (fosse qual fosse o sentido que isso ti-
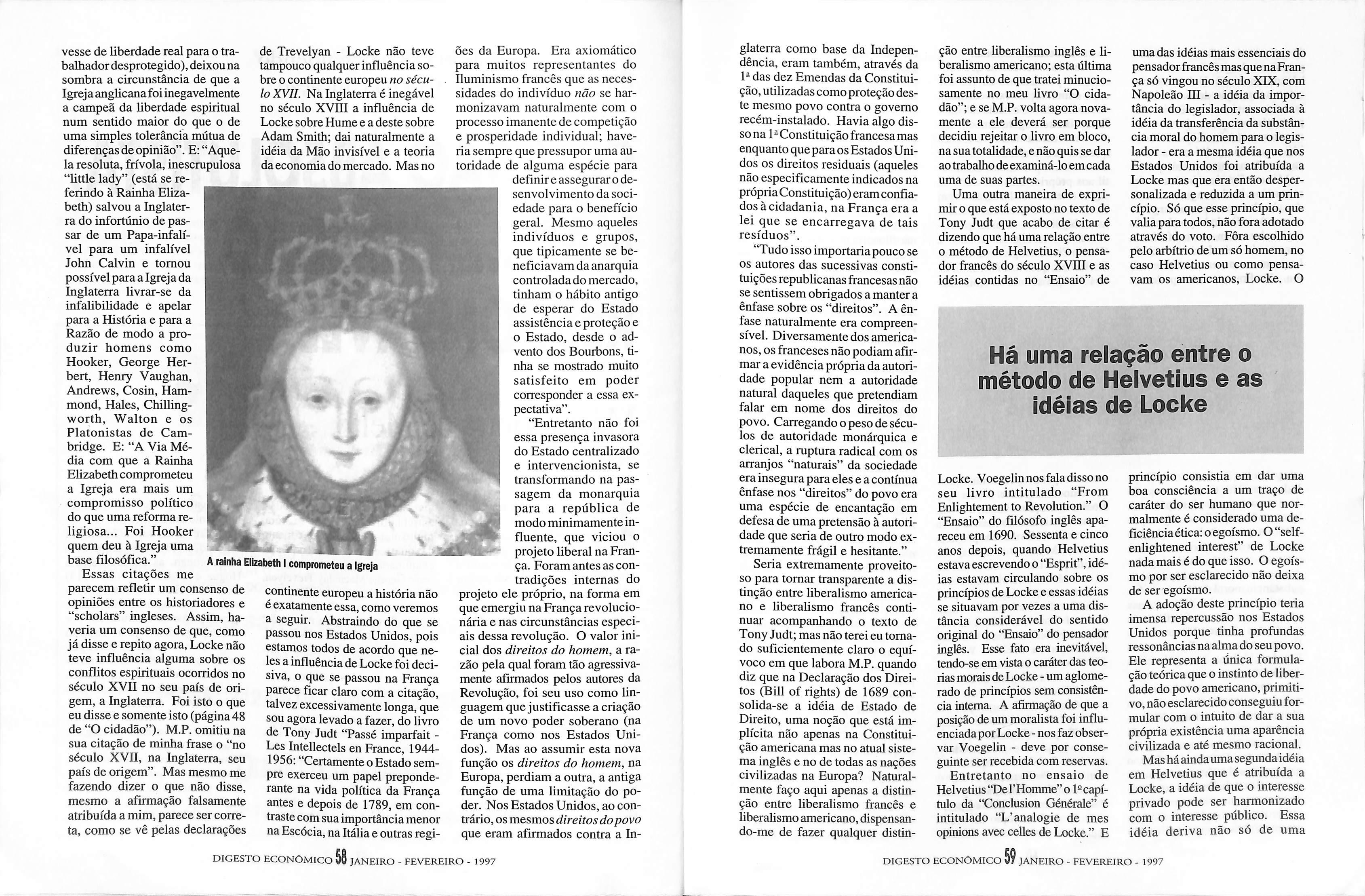
vesse de hberdade real para o trabaüiadordesprotegido), deixou na sombra a circunstância de que a Igrejaanglicanafoi inegavelmente a campeã da liberdade espiritual num sentido maior do que o de uma simples tolerância mútua de diferenças de opinião”. E: “Aque la resoluta, frívola, inescrupulosa “httle lady” (está se re ferindo à Rainha Elizabeth) salvou a Inglater ra do infortúnio de pas sar de um Papa-infalível para um infalível John Calvin e tomou possível para a Igreja da Inglaterra livrar-se da infalibilidade e apelar para a História e para a Razão de modo a pro duzir homens como Hooker, George Herbert, Henry Vaughan, Andrews, Cosin, Hammond, Hales, Chilhngworth, Walton e os Platonistas de Cambridge. E: “A Via Mé dia com que a Rainha Elizabeth comprometeu a Igreja era mais um compromisso político do que uma reforma re ligiosa... Foi Hooker quem deu à Igreja uma base filosófica.”
Essas citações me parecem refletir um consenso de opiniões entre os historiadores e “scholars” ingleses. Assim, ha vería um consenso de que, como já disse e repito agora, Locke não teve influência alguma sobre os conflitos espirituais ocorridos no século XVII no seu país de ori gem, a Inglaterra. Foi isto o que eu disse e somente isto (página 48 de “O cidadão”). M.P. omitiu na sua citação de minha frase o “no século XVn, na Inglaterra, seu país de origem”. Mas mesmo me fazendo dizer o que não disse, mesmo a afirmação falsamente atribuída a mim, parece ser corre ta, como se vê pelas declarações
Locke sobre Hume e a deste sobre Adam Smith; dai naturalmente a idéia da Mão invisível e a teoria da economia do mercado. Mas no ^
de Trevelyan - Locke não teve tampouco qualquer influência so bre 0 continente europeu ?io sécii- Iluminismo francês que as neceslo XVII. Na Inglaterra é inegável no século XVIII a influência de sidades do indivíduo não se har¬ monizavam naturalmente com o processo imanente de competição e prosperidade individual; have ría sempre que pressupor uma au toridade de alguma espécie para definir easseguraro de senvolvimento da soci edade para o benefício geral. Mesmo aqueles indivíduos e grupos, que tipicamente se be neficiavam da anarquia controlada do mercado, tinham o hábito antigo de esperar do Estado assistência e proteção e o Estado, desde o ad vento dos Bourbons, ti nha se mostrado muito satisfeito em poder corresponder a essa ex pectativa”.
A rainha Elizabeth i comprometeu a Igreja
continente europeu a história não e exatamente essa, como veremos seguir. Abstraindo do que se passou nos Estados Unidos, pois estamos todos de acordo que les a influência de Locke foi deci siva, o que se passou na França parece ficar claro com a citação, talvez excessivamente longa, que sou agora levado a fazer, do livro de Tony Judt “Passé imparfaitLes Intellectels en France, 19441956: “Certamente o Estado pre exerceu um papel preponde rante na vida política da França antes e depois de 1789, em con traste com sua importância menor na Escócia, na Itália e outras regi-
oes da Europa. Era axiomático para muitos representantes do
“Entretanto não foi
essa presença invasora do Estado centralizado e intervencionista, se transformando na pas sagem da monarquia para a república de modo minimamente in fluente, que viciou o projeto liberal na Fran ça. Foram antes as con tradições internas do projeto ele próprio, na forma em que emergiu na França revolucio nária e nas circunstâncias especi ais dessa revolução. O valor ini cial dos direitos do homem, a ra zão pela qual foram tão agi’essivamente afirmados pelos autores da Revolução, foi seu uso como lin guagem que justificasse a criação de um novo poder soberano (na França como nos Estados Uni dos). Mas ao assumir esta nova função os direitos do homem, na Europa, perdiam a outra, a antiga função de uma limitação do po der. Nos Estados Unidos, ao con trário, os mesmos direitos do povo que eram afirmados contra a In-
glaterra como base da Indepen dência, eram também, através da P das dez Emendas da Constitui ção, utilizadas como proteção des te mesmo povo contra o governo recém-instalado. Havia algo dis so na P Constituição francesa mas enquanto que para os Estados Uni dos os direitos residuais (aqueles não especificamente indicados na própria Constituição) eram confia dos à cidadania, na França era a lei que se encarregava de tais resíduos”.
“Tudo isso importaria pouco se os autores das sucessivas consti tuições republicanas francesas não se sentissem obrigados a manter a ênfase sobre os “direitos”. A ên fase naturalmente era compreen sível. Diversamente dos america nos, os franceses não podiam afir mar a evidência própria da autori dade popular nem a autoridade natural daqueles que pretendiam falar em nome dos direitos do povo. Carregando 0 peso de sécu los de autoridade monárquica e clerical, a ruptura radical com os arranjos “naturais” da sociedade era insegura para eles e a contínua ênfase nos “direitos” do povo era uma espécie de encantação em defesa de uma pretensão à autori dade que seria de outro modo ex tremamente frágil e hesitante.”
Seria extremamente proveito so para tomar transparente a dis tinção entre liberalismo america no e liberalismo francês conti nuar acompanhando o texto de Tony Judt; mas não terei eu toma do suficientemente claro o equí voco em que labora M.P. quando diz que na Declaração dos Direi tos (Bill of rights) de 1689 con solida-se a idéia de Estado de Direito, uma noção que está im plícita não apenas na Constitui ção americana mas no atual siste ma inglês e no de todas as nações civilizadas na Europa? Natural mente faço aqui apenas a distin ção entre liberalismo francês e liberahsmo americano, dispensan do-me de fazer qualquer distin-
ção entre hberahsmo inglês e hberalismo americano; esta última foi assunto de que tratei minucio samente no meu livro “O cida dão”; e se M.P. volta agora nova mente a ele deverá ser porque decidiu rejeitar o livro em bloco, na sua totalidade, e não quis se dar ao trabalho de examiná-lo em cada uma de suas partes.
Uma outra maneira de expri mir o que está exposto no texto de Tony Judt que acabo de citar é dizendo que há uma relação entre 0 método de Helvetius, o pensa dor francês do século XVIII e as idéias contidas no “Ensaio” de
uma das idéias mais essenciais do pensadorfrancês masquenaFrança só vingou no século XIX, com Napoleão IQ - a idéia da impor tância do legislador, associada à idéia da transferência da substân cia moral do homem para o legis lador - era a mesma idéia que nos Estados Unidos foi atribuída a Locke mas que era então despersonalizada e reduzida a um prin cípio. Só que esse princípio, que vaha para todos, não fora adotado através do voto. Fôra escolhido pelo arbítrio de um só homem, no caso Helvetius ou como pensa vam os americanos, Locke. O
Há uma relação entre o método de Helvetius e as idéias de Locke
Locke. Voegelin nos fala disso no seu livro intitulado “From Enlightement to Revolution.” O “Ensaio” do filósofo inglês apa receu em 1690. Sessenta e cinco anos depois, quando Helvetius estava escrevendo o “Esprit”, idé ias estavam circulando sobre os princípios de Locke e essas idéias se situavam por vezes a uma dis tância considerável do sentido original do “Ensaio” do pensador inglês. Esse fato era inevitável, tendo-se em vista o caráter das teo rias morais de Locke - um aglome rado de princípios sem consistên cia interna. A afirmação de que a posição de um moralista foi influ enciada por Locke - nos faz obser var Voegelin - deve por conse guinte ser recebida com reservas.
Entretanto no ensaio de Helvetius “DerHomme”o Ucapítulo da “Conclusion Générale” é intitulado “L’analogie de mes opinions avec ceües de Locke.” E
princípio consistia em dar uma boa consciência a um traço de caráter do ser humano que nor malmente é considerado uma de ficiência ética; o egoísmo. 0“selfenhghtened interest” de Locke nada mais é do que isso. O egoís mo por ser esclarecido não deixa de ser egoísmo.
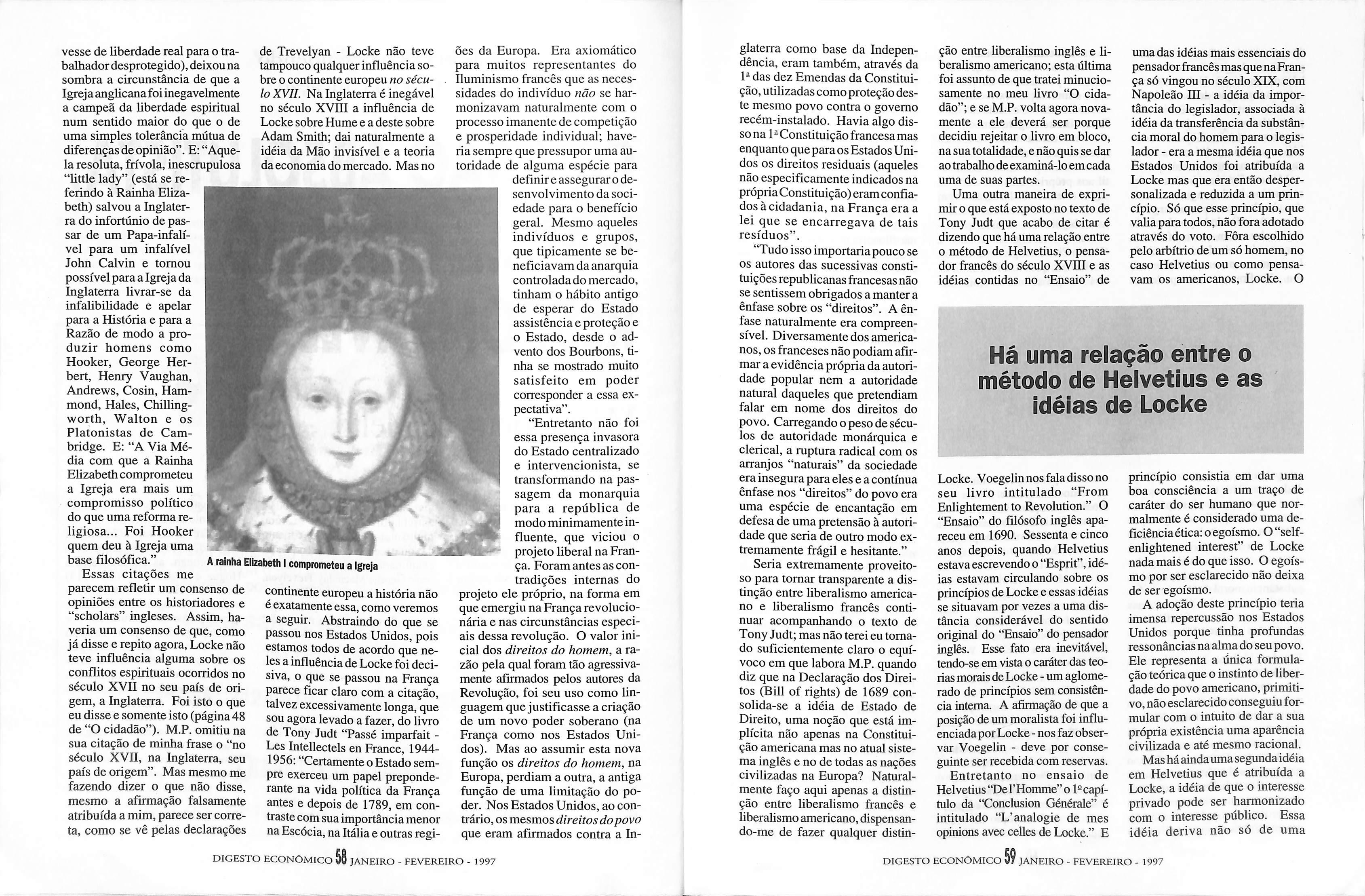
vo, em
com o
A adoção deste princípio teria imensa repercussão nos Estados Unidos porque tinha profundas ressonâncias na alma do seu povo. Ele representa a única formula ção teórica que o instinto de liber dade do povo americano, primitinão esclarecido conseguiu for mulai' com o intuito de dar a sua própria existência uma aparência civiüzada e até mesmo racional. Mas há ainda uma segunda idéia Helvetius que é atribuída a Locke, a idéia de que o interesse privado pode ser harmonizado interesse público. Essa idéia deriva não só de uma