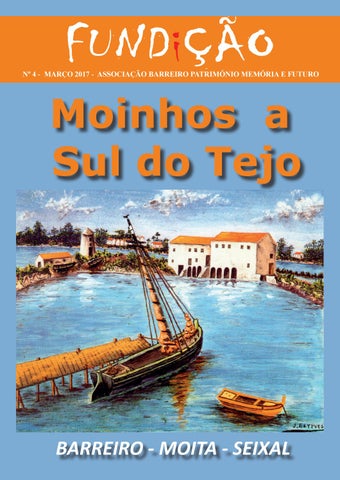FUNDiÇÃO
Nº 4 - MARÇO 2017 - ASSOCIAÇÃO BARREIRO PATRIMÓNIO MEMÓRIA E FUTURO
Moinhos a Sul do Tejo
BARREIRO - MOITA - SEIXAL
Índice
REVISTA FUNDiÇÃO Ficha tecnica
Moinhos a Sul do Tejo, Barreiro, Moita, Seixal Editorial...............................................................Pag. 3
Moinhos a sul do tejo - Barreiro Há Moinhos e Moinhos .........................................Pag. 4
BARREIRO
Roteiro dos Moinhos de Maré e de Vento do Barreiro Da Ponta da Passadeira, no Lavradio até Coina ......Pag.7
Edição
O Rio e a Vila de Coina no Estuário do Tejo e na Construção de Moinhos de Água: Maré ou Azenhas ......... Pag. 9
Nº3
Engenhos de moagem pré-industrial no concelho do Barreiro. Uma síntese. ........................................Pag. 11
Setembro 2016
Viagem aos moinhos ...........................................Pag. 18 Os Moinhos de Maré e a Expansão Marítima Portuguesa...........................................Pag. 20
Editor ASSOCIAÇÃO BARREIRO PATRIMÓNIO MEMÓRIA E FUTURO
A Indústria Moageira na Tradição Industrial do Barreiro .........................................................Pag. 22 Alburrica – Mexilhoeiro Um conjunto patrimonial ..........................................................Pag.24 Os antigos moinhos de maré da Verderena...........Pag,27
Composição Gráfica e Fotografias José Encarnação Contactos: Espaço L Rua José Gomes Ferreira Antiga Estação Ferroviaria do Lavradio abpmf.patrimonio@gmail.com
FUNDiÇÃO 2
Moinhos de maré do estuário do tejo que futuro? ........................................................Pag. 40 O moinho da serração e a caldeira do sangue .....Pag. 43
Moinhos a sul do tejo - Moita O moinho de maré de Alhos Vedros ....................Pag. 31
Moinhos a sul do tejo -Seixal Um património histórico e técnico ancestral: Os moinhos de maré do Seixal ............................Pag. 36
Moinhos a Sul do Tejo
Editorial
Moinhos a Sul do Tejo
Barreiro, Moita, Seixal
“Cresci com a paixão pelos moinhos, com a ideia ro- mica, assume uma dimensão técnica específica, difímântica de viver num. Olho-os desde pequena... Fas- cil e complexa, a reclamar o concurso de especialistas, convidámos a participar neste número alguns investicinada! gadores, aqui lhes deixamos o nosso agradecimento pelos contributos. Quantos de nós repetem este mesmo desejo? Quantos de nós, ao olhá-los, expressam esta mesma ideia?
Neste número, embora centrado no Barreiro, queremos, com os artigos sobre a Moita e o Seixal, salienProvavelmente muitos. tar a existência de uma homogeneidade ligada quer à região a Sul do Tejo, quer aos esteiros onde se insO recorte físico dos moinhos de maré e dos de vento, a relação que estabelecem com elementos vitais crevem os moinhos de maré. como a água e o vento, a forma como desenham uma paisagem de singular beleza que caracteriza o nosso Com esta revista, se contribuirmos para despertar o património ambiental ribeirinho, inscrevem-nos no interesse e a atenção para este campo de investiganosso imaginário como um sonho...ter um moinho só ção ainda muito virgem no Barreiro e se tornarmos mais fácil e objectivo o conhecimento sobre esta para mim!” Maria João Quaresma parcela do nosso passado e sobre sua importância e singularidade, já teremos alcançado algumas finaliPara além deste imaginário romântico, os moinhos dades significativas.
transportam nas suas pedras a memória das nossas gentes e uma história que rompe o silêncio e desven- E não esqueçam de nas tardes de Primavera ou de Outono, quando os dias se alongam numa luz mágica da parte significativa da nossa identidade cultural. e o ar parece veludo, peguem no roteiro da revista e A nossa singularidade inscreve-se, também, neste visitem os nossos moinhos.
património colectivo de pedra e perfil intimista, contudo muitos de nós desconhecemos a sua/nossa his- Resta-nos desejar a todos/as boas leituras e reflexões e pedir que nos enviem para abpmf.patrimonio@ tória. gmail.com os vossos contributos.
E porque sabemos que a molinologia recorrendo à etnografia, à história das técnicas e à história econó-
ASSOCIAÇÃO BARREIRO PATRIMÓNIO MEMÓRIA E FUTURO
FUNDiÇÃO 3
Moinhos a sul do tejo - Barreiro
Há Moinhos e Moinhos Deolinda Saraiva (*)
O Barreiro era uma terra de pescadores e moleiros, não é?
maré que enchia, a maré que vazava movia a mós, numa atitude solidária entre o homem e o rio. Eram muitos, onze, segundo consta.
A vila aconchegava-se ao pé da praia, e o vento salgado vinha brincar com as velas dos moinhos de vento Venham comigo dar um passeio ao longo do rio da que, colocados à beira-praia, formavam um colar de água e do rio do tempo para ver se os encontramos! Comecemos pelo fim da praia, pelo Lavradio. Aqui pedras brancas desde a Recosta até ao Lavradio. existiu o Moinho do Cabo do Alcoitão, com o nome liDia e noite as velas trabalhavam moendo farinha. gado a gente ilustre das Descobertas. As gaivotas que Onze moinhos um na Recosta, três em Alburrica, um pescam do que resta da Caldeira da Ponta da Passano Mexilhoeiro, dois na praia norte e quatro no La- deira, talvez se lembrem ainda de uma praia diferenvradio, a cuja praia chamavam a praia dos moinhos. te animada pelo ruído dos rodízios e pelo desfile dos Imagina a música de vento e velas que à noite se em- barcos que iam buscar a farinha. brenhava pelas ruelas e becos, a embalar o sonho dos meninos daquele tempo.
Alguns desses moinhos ainda existem, já reparaste naquele que é vizinho da Piscina Municipal? – Chamam-lhe o Moinho do Jim ou James – E os outros três que contornam Alburrica e tornam mais bonitas as partidas e as chegadas da Cidade?
Mas não nos podemos demorar porque os moinhos são muitos e os dias mais pequenos.
Aqui, no Mexilhoeiro, na bonita Quinta do Braamcamp ainda hoje podes ver um outro, bem conservado. Continuemos o passeio, contornemos devagar as caldeiras, e aqui está o Moinho Grande, que nos princípios da sua existência pertenceu a Manuel da Cunha, fidalgo da Casa d´El REI, até que no nosso séMas talvez os mais castiços, por darem à terra uma identidade própria, sejam os moinhos de água. A culo acabou, com saudades do trigo, a moer e misturar envergonhado, diversos produtos de origem
FUNDiÇÃO 4
Moinhos a sul do tejo - Barreiro
animal e vegetal. Chamaram-lhe então o Moinho do Burnay.
grande Viagem. Aqui coziam o biscoito, e o Moinho d´EL Rei tinha oito pares de mós ou moendas, como também lhe camavam.
A seguir, ao lado da garagem da Rodoviária, podemos ainda ver um dos mais conservados, é o Moinho Pe- Chegámos a Coina, freguesia que já foi vila imporqueno, que já foi chamado de S. Roque. tante de grande vitalidade económica, onde, desde o século XIII (1224), há notícia de construção de vários Um pouco à frente encontras uma ruína românica, - moinhos. Desapareceram quase todos e poucos se algumas arcadas que mergulham na caldeira, touca- mantiveram na memória das gentes. A notícia mais das de salgadeiras que lhes servem de proteção – é o presente é o Moinho do Olival, junto ao velho cais da Moinho do Cabo. A partir da actual estação dos bar- antiga vila. cos, o Rio estreita-se e mistura as águas com as do Coina. Agora é melhor irmos de bote. Aqui, estás a Chegámos. ver aquelas ruínas ao pé do campo do Futebol Clube Barreirense? – é o que resta dos Moinhos da Verde- Tantos moinhos que desapareceram! Não fiquemos rena. tristes, o mundo está sempre a mudar, às vezes para melhor, e nós sempre teremos tempo para lançar um Devagarinho chegamos à praia da Telha, dourada, no olhar amigo aos velhos vestígios, marcas de um Barque resta do seu areal. Aqui existiu até ao século XIX reiro outro e que ainda é nosso. o Moinho do Maricote. Um pouco à frente ainda outro moinho, o do Duque - (enorme centro de moa- (*) Deolinda Saraiva, Professora (25/11/1941- -28/3/2014) gem) – e pertenceu ao Duque do Cadaval, restando dele apenas uma triste ruína. Mais acima, na actual A Associação Barreiro Património Memória e Futuro freguesia de Santo André um velho engenho, em agradece aos filhos Ana Isabel, Raquel e Nuno e a mau estado de conservação, assinala que ali existiu Carla Marina Santos, pela cedência deste maravilhoo Moinho de Palhais. so texto Estamos a chegar ao fim do nosso passeio. Já vai sendo tempo, que tenho as mãos doridas de tanto remar. Eis-nos em Vale de Zebro, que foi centro de apoio à FUNDiÇÃO 5
1 18
14 2 4
13 12 5
3 15 16
17 6
7 8 9
10
11
FUNDiÇÃO 6
Moinhos a sul do tejo - Barreiro
Roteiro dos Moinhos de Maré e de Vento do Barreiro Da Ponta da Passadeira, no Lavradio até Coina Advertência: assinalamos que todas
3. Moinho do Cabo – no ano de 1495, as datas referidas se reportam ao pri- a Ordem de Santiago recebeu de Basmeiro documento no qual se faz re- tião Dias e sua mulher o pagamenferência ao moinho, pelo que não se to anual de 24 alqueires de trigo do pode afirmar que a data coincide com Moinho Novo no cabo de Pêro Moço, a edificação, salvo quando tal fica ex- possuía só 4 engenhos tendo mais tarde sido duplicados para 8. presso.
Para a elaboração deste roteiro consultámos os textos de Ana de Sousa Leal na Revista “Um Olhar Sobre o Barreiro”, número especial dedicado à história dos moinhos do Barreiro ( nº2- III Série – Nov.1993) e recomendamos vivamente a sua leitura. 4. Moinho Grande, da Serração ou do Burnay - sabemos da sua existência em 1652, sendo então propriedade 1. Moinho do Cabo do Alcoitão ou de Manuel da Cunha fidalgo da Casa Alcotarém – em 1509 Duarte Galvão d´El-Rei. Foi vendido em 1892 a Rui recebeu em sesmaria um esteiro de Albuquerque d´Orey, funcionando para reedificar um novo moinho, na aí a Companhia da Fábrica da SerraQuinta onde seu pai, Ruí Galvão já ti- ção de Orey e Companhia. Nos anos nha construído outro. Em 1578, Brás 20 do século XX a Câmara licenciou-o Afonso de Albuquerque, seu proprie- para o funcionamento da firma Hentário, arrendou-o ao moleiro Fernão ry Burnay e Companhia, passando a Dias. Não há qualquer vestígio do moer e triturar diversos produtos de mesmo, embora neste cabo do Alcoi- origem animal. A sua caldeira ainda é tão/Ponta da Passadeira seja visível a conhecida como caldeira do sangue existência de uma caldeira no mapa devido ao escoamento residual fruto de Filipe Folque, datado de 1879. (ver da actividade do matadouro, que se artigo de Jorge Custodio) encontrava situado na sua margem do lado da Escola Alfredo da Silva. 2. Moinho do Braamcamp – reedificado depois do terramoto de 1755 por Vasco Lourenço proprietário da quinta, conhecida pelo nome Braamcamp a partir do século XIX, uma vez vendida a Geraldo Wenceslau Braamcamp. Agora propriedade da Câmara Municipal do Barreiro. Possui uma caldeira rectângular paralela à praia que era gigantesca, dado que a água tinha de 5. Moinho Pequeno – a primeira notíbater em dez rodízios ao mesmo temcia data de 1652, em 20 de Março foi po. Este é o maior do Concelho. arrendado por D. Antónia de Morais a João Carvalho. No século XVIII entrou na posse dos multi- fundiários Costas, que, num processo que durou muitos anos, o vendem à Câmara Municipal do Barreiro.
Moinhos de Maré
6. Moinho da Verderena – em 1484 Gaspar Correia instalou na zona o primeiro moinho, que é referido na Carta de Foral do Barreiro de 1521 como o moinho de Gaspar Correia. Só no século XIX voltamos a ter documentação, porém referindo já a existência de dois moinhos um de cinco moendas e outro de seis que se fundiram num só de nove engenhos, demolidos em 1970, a caldeira aterrada como os seus vestígios.
7. Moinho do Duque - conhecemos a sua existência em 1790, desconhecemos a data de edificação, mas terá sido posterior ao Moinho do Maricote, ambos na Telha, Freguesia de Santo André, sendo a razão do seu nome o facto de ter pertencido ao Duque de Cadaval. Tinha 6 engenhos, barco e casas de residência do moleiro, como era habitual em todos os moinhos de maré. Pertence à Parceria Geral de Pescarias, vulgo Seca do Bacalhau. 8.Moinho do Maricote - situava-se na praia da Telha, foi construído no iní-
FUNDiÇÃO 7
Moinhos a sul do tejo - Barreiro cio do século XVI por Pedro Anes Cota, 12.Moinho de Luís Costa – em 28 de ainda existia no século XIX. Hoje com- Julho o Barão do Sobral pagou sisa à pletamente destruído. Câmara do Barreiro referente a um moinho de vento sito na praia do Ro9.Moinho de Palhais - em 1485, Pero sário, comprado por ele a Luís da CosMealheiro, cavaleiro da Ordem de ta. Este moinho já não existe. Santiago, enviou informação ao Convento de Santiago de Palmela, dizen- 13. Moinho do Jim – em 1826 Diogo do que reedificara o moinho que era Hartley pediu aforamento de um terseu em Palhais. reno baldio com 60 varas sito a norte da Igreja de Nossa Senhora do Rosário e a Poente da fazenda do Barão do Sobral do Monte Agraço (Geraldo Venceslau Braamcamp de Almeida e Castelo Branco). Em vão se opôs a este aforamento o Barão do Sobral argumentando que o terreno era insignificantíssimo, mas indispensável para logradouro público e do formi10.Moinho d´El-Rei – integrado no dável estabelecimento que possuía Complexo Real de Vale de Zebro, a contíguo, e, ainda, porque o comprasua construção deve ter sido feita em dor Diogo Hartley era um estrangeiro meados do século XV, no reinado de não naturalizado no Reino e visava D. Afonso V, altura em que entra em prejudicar os naturais, que mais prefuncionamento a fábrica do biscoito. cisavam de pão que de moenda. No Pertencia à coroa. Este complexo teve ano de 1850 James Hartley arrendou um papel de extrema importância dueste moinho a José Pedro da Costa. rante o Período da Expansão. 11. Moinho do Olival – existem referências a moinhos em Coina desde1224, embora, em muitos dos casos, não se saiba se são azenhas ou moinhos de maré. Ao longo dos séculos muitos dos primitivos moinhos foram desaparecendo e a alteração dos topónimos torna difícil a sua localização. Sabemos que as mais antigas referências a moinhos, no que é hoje o actual Concelho do Barreiro, reportam-se a Coina. O moinho do Olival, em 1785, pertencia aos Duques de Palmela. Este moinho tinha a particularidade da comporta se situar quase ao centro.
Moinhos de Vento
FUNDiÇÃO 8
14. Moinho do Barão do Sobral – em 1819 e um documento refere que o Barão do Sobral anda construindo um moinho na Vila do Barreiro. No ano
instalar um moinho de vento com uma tecnologia mais avançada que permitia com menos pessoal farinhar muito mais que os dois moinhos seus vizinhos. Presentemente propriedade da Câmara Municipal do Barreiro.
16. Moinhos Nascente e Poente – em 22 de Dezembro de 1894 é proferida Sentença Civil a favor de D. Maria José da Cruz Crespo, por legado testamentário de D. Maria de São José de dois moinhos de vento (nascente e poente) e terrenos anexos, em Alburrica. Actualmente propriedade da Câmara Municipal do Barreiro.
17. Moinho da Recosta – em 14 de Outubro de 1834 fala-se deste moinho numa escritura de arrendamento, onde se dizia que confrontava a Norte com o quintal de José Maria Mendes, a Sul com a Praça de Santa Cruz, a Nascente com a casa da Viscondessa de Carregoso e a Poente com as casas de Francisco da Ratinha. Este moinho já não existe.
18. Lavradio, Praia dos Moinhos – pela existência, na praia fluvial no Lavradio, de 4 moinhos de vento esta era conhecida pelo nome de Praia dos Moinhos. Por documentação só se conhecem 3, porém o mapa de Filipe Folque, de 1879, localiza os quatro. A praia era muito frequentada pela de 1820, noutro documento refere- classe operária moradora nos Bairros -se “um moinho de vento que não Operários: da C.U.F.,das Palmeiras, tem semelhante neste Reino, e talvez do Lavradio e Alto do Seixalinho. O que não haja nas outras nações”. desenvolvimento industrial acabou 15. Moinho Gigante – a 18 de Julho por destruir o local. Nos anos 40 do de 1852 José Pedro Costa arrematou século XX, já só restava a ruína de um um terreno baldio em Alburrica, para dos moinhos.
Moinhos a sul do tejo - Barreiro
O Rio e a Vila de Coina no Estuário do Tejo e na Construção de Moinhos de Água: Maré ou Azenhas Carla Marina Santos
Como todos sabemos o estuário do Tejo tem condições
naturais únicas que facilitaram a instalação de moinhos de água e particularmente de moinhos de maré. Não admira pois que, neste espaço, se registe uma das maiores concentrações deste tipo de engenhos no contexto da Europa.
A doação de Coina, em 1271, ao referido Mosteiro que se regia pela Regra de Santiago, a mesma da Ordem Militar de Santiago, favorece a colonização e desenvolvimento deste lugar. Temos notícia de que por aqui passou o cortejo nupcial do Infante D. João e da Princesa d. Joana, uma grandiosa festa naval com dezenas de barcos ornamentados, por aqui, também passou, em 1571, a caminho de Lisboa, o legado do Papa Pio V.
Na margem esquerda do Tejo e na costa do Algarve construíram-se os principais complexos de moinhos de maré, na primeira foram inventariados 37 engenhos, na segunA vitalidade de Coina está ligada à sua situação “no extreda 29. mo sul do mais profundo esteiro da margem esquerda do Em Portugal, este estuário é pioneiro na construção de Tejo, o que, se tornava o percurso da travessia mais caro moinhos de água, em particular, nos esteiros dos Rios Coi- e longo, ganhava vantagem em termos de rapidez face à na e Trancão, com documentada existência de azenhas, morosidade da deslocação por terra, pese a sujeição ao jogo das marés. Depois, porque Coina era lugar camjnhandesde bastante cedo. te, o centro de um sistema viário que articulava todo o Num documento, datado de 1251, refere-se que D. Afon- território da Península da Arrábida.” (Oliveira, José Augusso III cede ao Mosteiro de S. Vicente de Fora a jurisdição to, 2009). Por isso um dos principais portos de abastecide terreno em S. Julião do Tojal, no Rio Trancão, onde se mento a Lisboa, o que leva D. Manuel I a conceder-lhe Foencontravam azenhas, que segundo outro documento po- ral, em 1516, neste reconhece a vila como principal ponto de passagem para a Lisboa, dedicando todo um artigo às diam existir já, em 1218. regras de circulação das barcas. Sabemos que o mesmo mosteiro possuía vários engenhos de moagem no Tejo. É o caso de um moinho, nas margens do Coina, junto a “ Portus Militia” (Porto Cavaleiros), doado juntamente com uma herdade, em 1224, por Mendo Rodrigues e sua mulher Teresa ao Mosteiro de S. Vicente de Fora. Isto significa que, na margem esquerda do estuário, também designada de “Outra Banda”, este moinho é o mais antigo de que há conhecimento, até ao momento e seria uma azenha. Esta notícia reporta-se a Coina, não a mesma Vila que começa a florescer na Idade Média, sob a jurisdição do Convento de Santos e que pertence, hoje, ao território do Barreiro.
FUNDiÇÃO 9
Moinhos a sul do tejo - Barreiro A comprovar esta importância como local de atravessa- agravaram nem tomaram estormentos degravo e como mento e comércio fluvial, encontramos notícia da exis- taaes moynhos sam proveitosos pêra suas moendas”. tência, em 1328, na Ribeira de Lisboa, de um “Porto das Bibliografia Barcas do Couna”. Anteriormente ao domínio do Mosteiro de Santos, este lugar já era ponto de passagem, tendo facilitado a deslocação para a reconquista de Alcácer do Sal, sendo rota, habitual, dos Cavaleiros da Ordem de Santiago, para Palmela. Voltando aos moinhos de água em Coina, estes foram muitos ao longo dos tempos, uns desapareceram, outros foram sendo reconstruídos, o que torna difícil cartografá-los. Porém, não há dúvidas que estes engenhos imprimiram ao lugar uma grande robustez económica. Como, também, não há dúvida que no esteiro do Coina se regista uma das mais significativas concentrações de moinhos de maré.
Oliveira, António da Fonseca Leal de, “ Moinhos da Laguna Formosa”, in Acta do Congresso do Algarve, 1982, p.149-152 Carta Topográfica Militar do Território da Península de Setúbal, 1815-1816, Instituto Geográfico e Cadastral. Valegas, Augusto Pereira e Leal, Ana de Sousa, “Moinhos de Coina”, in “Um Olhar sobre o Barreiro: número especial sobre a história dos moinhos no Barreiro, nº 2- III Série, Nov. 1993. Oliveira, José Augusto C. F.,” O Porto de Coina”, in “ Olhares sobre a História: estudos oferecidos a Iria Gonçalves” ed. Caleidoscópio, Abril de 2009. Torres, Cláudio,”A Outra Banda”, in “O Livro de Lisboa”, coord. De Irisalva Moita, Lisboa, ed. Livros Horizonte, 1994. Nabais, António J. C. Maia,” Moinhos de Maré: património industrial”, colecção História do Seixal, ed. Câmara Municipal do Seixal, 1986. ANTT,Livro dos Forais Novos do Alentejo, fl. 88. Custódio, Jorge “Apontamentos sobre os Moinhos de Maré do Esteiro do Coine e sobre o Moinho Pequeno da Família Costa”in “Um Olhar Sobre o Barreiro”, nº1-II Série, Junho de 1989, Ed. Au“ Nos esteiros do Rio Coina, nas proximidades dos Fornos gusto Pereira Valegas.
de Vale de Zebro, existiam vários moinhos de maré, que devido ao fácil acesso, podiam fornecer farinhas para o fabrico do biscoito: para além do moinho do estabelecimento dos Fornos do Rei, encontravam-se dois moinhos no fundo do esteiro do Rio Coina, o Moinho do Cabo da Linha, o Moinho da Palmeira, o Moinho do Breyner, o Moinho Novo dos Paulistas e o Moinho Velho dos Paulistas, na margem esquerda do Rio Coina; e o Moinho de Palhais, dois Moinhos na Telha, dois Moinhos na Verderena, o Moinho Grande, o Moinho do Cabo, o Moinho Pequeno e o Moinho do Braancamp, na margem direita.”( Nabais, António J. C. Maia,1986).
O Foral dado por D. Manuel à Vila de Coina garante facilidades para a instalação de moinhos de maré nos sapais: “ Porem se em alguns sapaes sam já feitos alguns moynhos nam seram desfeitos mas estarão assy como estam visto como ao tal tempo que foram feitos os autores nam se
Porta de agua do moinho d´El-Rei, Vale do Zebro FUNDiÇÃO 10
Moinhos a sul do tejo - Barreiro
Engenhos de moagem pré-industrial no concelho do Barreiro. Uma síntese. Jorge Custódio 1
Implantados na orla fluvial da Alburrica, ou desde a Ponta
unidade “fabril” de maior ou menor dimensão.
do Mexilhoeiro até Coina e, antigamente, com expressão assinalada na Recosta – cujo nome é por si só indicativo do lugar repetitivo de “margem” –, entre a praia e as marinhas e areais do Lavradio, os engenhos de moagem marcaram desde remotas eras a paisagem daqueles lugares do Barreiro.
As transformações que a industrialização trouxe à terra de pescadores, salineiros e de lavradores e campesinos, produtores de cereal, daquelas terras da Outra Banda, não apagaram todas essas evidências, que por ciclos de conhecimento e valorização, investigadores, estudiosos, artistas, fotógrafos e poetas assinalaram e persistem referir no sentido da sua protecção, salvaguarda e conservação. Aquilo que estes engenhos nos podem dar hoje é já pouco. O seu ciclo funcional terminou durante o século XX, despois das tentativas de adaptação a outras funções na era do liberalismo e do capitalismo industrial. O Barreiro marcado por múltiplas indústrias, complexos ferroviários e fabris, como as estruturas da Linha do Sul e Sueste ou a “cidade” industrial da CUF e a urbanização que a industrialização provocou, em ondas sucessivas de construção urbana, a partir de periferias em redor do núcleo marginal antigo, não conseguiram apagar as evidências dos engenhos hidráulicos e eólicos – esta dupla de “moinhos” – que a localização junto ao rio, em praias, em Fig. 1 – Esteiro de Coina. Mexilhoeiro e Alburrica. Vista área esteiros, em sapais ou entre salinas, “protegeu” do vendaval da área parcial de estudo. Fotografia de ©Guta de Carva- do abandono ou do vandalismo. lho. Um necessário ajustamento conceptual Os vestígios que hoje perduram (torres de engenhos eólicos, ruínas de moinhos de maré) desafiam as autoridades, como Impõe-se antes de mais, um necessário ajustamento de naa revelar a sua presença que ali ainda moldam trechos da tureza científica. Porquê continuamos a designar todos eles paisagem, que os artistas tanto procuraram evidenciar. Os pelo nome de “moinhos”? Não pretendemos retirar-lhes o “moinhos” de vento, mesmo sem os velames, mostram as encanto ou o carácter poético e popular de outrora, que os soluções que aportaram ao Barreiro para resolver as diferen- etnólogos e antropólogos põe em evidência do “mundo que tes conjunturas da moagem, pela adopção de tecnologias perdemos” e/ou em confronto com as mudanças económimais adaptáveis aos tempos históricos. Os “moinhos” de cas e sociais que os tornaram obsoletos. Se escrevo “moimaré, por sua vez, integrados no horizonte cultural do Estuá- nhos” entre comas, é porque prefiro designá-los por “engerio do Tejo, respondendo a um sistema tecnológico que se nhos”, tendo em atenção à sua função, associada ao verbo generalizou em Portugal, nomeadamente no Mar da Palha transitivo “moer” 2 . Reparem que também não os adjectivei como expressão do conhecimento das condições geográfi- com a última expressão, de modo a clarificar a relação entre cas, orográficas, físicas, hidráulicas e marítimas dos locais de “moinho” e “moagem”, cujo sentido o senso comum lhes conimplantação. Estes últimos enquanto estruturas complexas fere: “moinhos de moagem” (um pleonasmo) ou “moinhos de arquitectura hidráulica revelam nas ruínas das arcadas de cereais”, isto é, no seu significado e natureza operatória, dos seus caboucos o domínio de uma arte de construir, de como espaços de transformação técnico-industrial associada um conhecimento do ritmo das marés e das necessidades à moagem no seu significado de “acto de moer”, nomeadade energia represada para garantir o funcionamento de uma mente a moagem de cereais. 1
Investigador integrado no Instituto de História Contemporânea – FCSH (UNL). Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial.
No Dicionário Prático Ilustrado da Lello (Porto: Lello & Irmão, Editores, 1986), o nome feminino, oriundo do latim (molinum) é a “máquina para moer grãos, para esmagar certas matérias e delas extrair o suco, etc”. Esta definição muito colada à indústria da moagem é, pelo que veremos de seguida, mais próxima do que estamos a considerar neste ajustamento de conceitos. No mesmo Dicionário (p. 784), moinho também pode ser “o edifício, onde essa máquina se acha instalada” ainda que neste caso o exemplo que é dado é o moinho a vapor. Já “moinho de vento” se diz em relação ao “engenho, cujo maquinismo tem o vento como motor”. Curiosamente, na língua portuguesa, os dicionários tiveram dificuldade de definir engenho” (do latim ingenium). No mesmo Dicionário (pp. 415-416), é o “nome de vários mecanismos para fabricar papel, moer a cana-de-açúcar, extrair água dos poços”, definição pobre quanto à qualidade e quanto à quantidade de engenhos por instalação, que tanto são máquinas complexas, destinadas a transformar uma matéria-prima num determinada produto ou o edifício ou espaço de trabalho onde aquela produção se realiza, como ´por exemplo, no Brasil são conhecidos os “engenhos de açúcar”. O conceito de engenho, enquanto máquina ou espaço de produção, deriva do talento, do saber, da invenção de uma pessoa ou de um colectivo social e correlaciona-se com o papel da inovação na génese do engenho enquanto realidade física, técnica e cultural. Todavia, já o seu significado de “instrumento ou utensílio” é bastante limitado e bastante incorrecto. A língua inglesa usa para estes casos o conceito de “apparatus”. Quanto a “moer” (p. 784), trata-se de “triturar, reduzir a pó, por meio de um moinho”, sendo este tanto um maquinismo simples (moinho manual) ou uma máquina complexa (motor+máquina operadora). 2
FUNDiÇÃO 11
Moinhos a sul do tejo - Barreiro Na realidade, em Portugal, o conceito de “moinho” aplica-se a quase todo o tipo de engenhos, mesmo os que não têm por função a “moagem” e de “moagem de cereais”. Vários exemplos vêm em meu auxílio, como os engenhos de drenagem e de bombagem de água, que nem sequer têm mós, embora também existentes em Portugal, para além da Holanda dos polders. “Moinhos” são também os de trituração de pedra ou de pasta de papel, antes de serem fábricas e até os de serração de madeiras. Isto para não falar, em moinhos que tem por objectivo o descasque de arroz ainda que usem mós, mas onde é impeditivo fazer farinha de arroz, ou pelo menos evitar a farinação do cereal. Existem também outros que o objectivo é triturar a matéria-prima, para depois obter os produtos finais noutras máquinas, como aconteceu nos lagares de azeite (com o esmagamento da azeitona) ou de preparação de bebidas e de mostarda. Ainda que com uma presença mais acentuada na toponímia dos lugares e na documentação, os pisões hidráulicos – cuja função é proceder ao infurtimento dos panos de lã – são frequentes vezes denominados “moinhos”.
nos tratados de construção (como por exemplo no De Architectura, de Vitrúvio, datado de 35-25 a.c. 3 ).
Mas aquele erro salientado acima requer uma correcção ou um ajustamento, para entender o processo da cadeia técnico dos ditos “moinhos” da gíria popular. Aliás, a sua designação estendeu-se da natureza industrial dos ditos engenhos à máquina motora que lhe foi incorporada para aumentar a quantidade e qualidade da moagem. Neste ponto a confusão ainda é maior e a documentação histórica requer ser contextualizada para evitar erros de interpretação dos documentos. Vejamos exemplos. A maior parte das vezes, encontramos a expressão “moinhos” para identificar a roda hidráulica horizontal, como seja o rodízio ou o rodete. Mas há engenhos de rodete que são chamados azenhas, como os de rodízio, mesmo quando se referem a “moinhos” de maré. A expressão azenha, que veicula uma tradição linguística árabe, em muitos espaços geográficos, refere-se aos engenhos cujo motor é uma roda vertical, independentemente da forma de alimentação de água nas palhetas ou copos da roda. Mas esse conceito não é universal. Noutros também se refere a Aceitemos, que a expressão “moinhos” se refere sobretudo engenhos de rodízio. Já o conceito de “atafona” anda assoà função industrial de moagem e ao aparelho técnico que a ciado a um engenho de tracção animal, mas não explica os viabiliza: a máquina operadora composta de mós. Esta má- seus diferentes sistemas técnicos, em uso desde a Civilização quina na sua expressão mais elementar era um aparelho ac- Romana até à actualidade, sobretudo nas urbes. cionado por homens e mulheres, que com a forma rudimentar de almofariz e pilão coexistiu em sequência histórica ou Outro exemplo, refere-se aos “moinhos” de armação que em paralelo com a uma superfície plana (designada muitas proliferaram na Península Ibérica depois da sua importação vezes como mó) sobre a qual se punha em movimento um re- dos EUA. A armação refere-se à arquitectura do engenho eóbolo. A arqueologia e a antropologia cultural mostraram com lico, de construção em madeira ou em vigamentos metálicos, clareza a persistência milenar destes primitivos aparelhos de que moldaram as paisagens agrícolas e urbanas desde os sémoagem, desde a pré-história à actualidade. A descoberta culo XIX enquanto engenho invasor de baixo custo, mas que das mós discoides accionadas com movimento circular ho- hoje também se culturalizou e se tornou património cultural. rizontal marcaram, todavia, uma grande revolução cultural, Do ponto de vista funcional, a maior variedade é a de enpois responderam a uma necessidade de escala da moagem, genhos de bombagem para viabilizar água para as culturas por ventura para retorquir a novas conjunturas culturais e ci- de regadio e outros fins agrícolas e urbanos. Mas também vilizacionais e a uma procura maior de excedentes agrícolas. surgiram os aeromotores, como nome a dar aos motores inEste estádio cultural das máquinas de mós exigiu, a determi- dustriais oitocentistas e novecentistas que passaram a acionada altura da cultura material, a incorporação tecnológica nar moagens mais modernas (não só com máquinas de mós, de fontes de energia mais potentes e a conjugação entre as mas também com máquinas de limpeza do cereal – tararas, máquinas operadoras de moagem e os motores que as fa- triores, despredadores e separadores ou combinados de limziam acionar. Este estádio requereu um determinado estádio peza), lagares e até mini centrais de energia eléctrica. Ora do desenvolvimento da mecânica (inicialmente da mecânica devido à hegemonia do nome de “moinhos”, também nestes, helenística, séc. III-I a.c.) que originou aquilo que denomina- com largos velames metálicos e destinados a servir unidamos por “engenhos de moagem”, uma articulação complexa des fabris rurais, se popularizou a mesma expressão. Ora esentre motor (de tracção humana, animal, hidráulica e eólica, tes últimos engenhos, de feição industrial, concorreram no enquanto portadoras de energia potencial) e máquina ope- mercado da construção de engenhos, com a finalidade de radora (um par ou mais de mós discoides). substituir as antigas tecnologias – então consideradas obsoletas – dos engenhos pré-industriais. A sua feição industrial, Não é altura para falarmos desta longa histórica que a ar- embora diferente, quanto à época histórica, à natureza dos queologia tem ajudado a construir a partir de vestígios de materiais de construção (onde predomina o ferro e o aço) antigas estruturas exumadas. Mas essa complexidade não e aos sistemas operadores, radica no surto do desenvolvinasceu do acaso, nem foi imediata. Pressupôs, como os his- mento da ciência experimental e da mecânica dos séculos toriadores das técnicas têm referido, de soluções práticas e XVII e XVIII. Também pressupõe uma outra mudança, dada experimentais, de inovação e de condições socioeconómicas a sua apropriação por parte de empresas metalomecânicas e culturais para o seu estabelecimento e disseminação. Em de construção, que através dos desenhos dos seus catálogos, determinado momento histórico, a mecânica e a arquitectu- os vendiam completos e os montavam nas terras dos comra dos engenhos de moagem passaram a ser incorporadas pradores. .3
VITRÚVIO, Tratado de Arquitectura, tradução do latim, introdução e notas de M. Justino Maciel, Lisboa: IST Press, 2006, Introdução, p. 12.
FUNDiÇÃO 12
Moinhos a sul do tejo - Barreiro Ora, o estabelecimento de tipologias técnicas requer que nos libertemos dos nomes das coisas, para interpretar com maior verosimilhança as coisas. Há, pois, na questão do estudo dos engenhos mais arcaicos, tanto pré-industriais como industriais, de interpretar de forma cada vez mais científica àquilo que nos referimos e ajudar à construção de um leitura mais precisa dos vestígios que chegaram até nós. Fiquemos com uma noção essencial, para a economia deste estudo, os “moinhos” associados à moagem são engenhos pré-industriais complexos, resultantes da combinação do motor e do aparelho ou máquina de moagem. São apenas um tipo de engenhos pré-industriais, num universo de soluções da transformação da matéria-prima em produtos ou produtos intermédios e de subprodutos que surgiram na Antiguidade e na Idade Média e se aperfeiçoaram com a Revolução Comercial e ao longo das primeiras fases da industrialização. Atenda-se, por exemplo, aos engenhos de açúcar, onde os portugueses e brasileiros inovaram. Simplificando, o conceito de “engenho” refere-se a uma máquina complexa destinada a proceder à transformação de uma matéria-prima num determinado produto 4 . Essa complexidade aumenta se soubermos que as ligações entre motor e máquina, por via das transmissões mecânicas, explicam muitas diferenças entre eles, mostrando outro estádio das suas tipologias motoras ou operadoras. Mas há ainda, do ponto de vista da cultura material, a questão da arquitectura dos engenhos, que implica, edifícios e espaços de trabalho, não só destinados à realização da transformação técnico-industrial (onde o conceito de sistema adquire todo o seu sentido), mas implicando também as construções de apoio. Também, neste ponto, existem tipologias, mas estas são do foro da arquitectura, que põe em consideração, necessariamente a relação entre sistemas técnicos e paisagem construída, na sua relação entre forma e função. Neste caso, o estabelecimento de tipologias construiu-se a partir dos dados existentes e da observação visual ou “arqueológica” dos vestígios identificados. O estabelecimento de tipologias motoras e operadoras encontra-se amplamente desenvolvido desde 1965, com o nascimento da “molinologia”, uma expressão que se deve a João Miguel Santos Simões (1907-1972) e que hoje integra o grosso da investigação internacional sobre engenhos pré-industriais, nomeadamente de moagem. A nível internacional, os estudos garantem bases científicas indispensáveis para a integração e a compreensão dos engenhos similares portugueses. Em Portugal, estas tipologias tem tido o contributo da escola de etnologia de Ernesto Veiga de Oliveira (1910-1990), assente na observação minuciosa dos vestígios dos engenhos de moagem tradicionais, ainda sobreviventes no tempo da investigação de campo da referida escola e que depois foi desenvolvida pelos seus continuadores, atenden-
do ao modelo de análise construído. A arqueologia convencional e a arqueologia industrial portuguesa têm contribuído para o esclarecimento das tipologias adquiridas e para o estabelecimento de outras que não foram consideradas do ponto de vista da etnologia e da antropologia, preocupados mais com o universo social do «mundo que nós perdemos” (Peter Laslett). Arqueólogos e arquitectos assinalam também a necessidade de estabelecimento das tipologias arquitectónicas dos edifícios vernáculos de moagem pré-industrial. Mas também aqui a complexidade é muito maior do que se sabe e os estudos sistemáticos são raros e ainda bastante deficientes. Uma análise só se completa tendo em consideração sempre, quem é quem na moagem (o intangível 5 ), e isso é determinado pela propriedade dos engenhos (os seus senhores), pelo trabalho que neles se efectua com as máquinas de mós disponíveis (assumido pelos moleiros e seus auxiliares) e pelos resultados da farinação (matérias-primas e produtos, suas quantidades e qualidades). Nos engenhos pré-industriais são mais visíveis os senhores do que os trabalhadores, ainda que a documentação refira, aqui e além, o nome de moleiro, por vezes o seu lugar neste ou naquele engenho e os problemas que enfrenta na produção, na manutenção dos meios de produção e no transporte fluvial. A história destes engenhos, baseada na documentação primária de arquivo, na cartografia, na iconografia e nos vestígios físicos sobreviventes, permite compreender as suas estruturas e a sua duração no tempo e as conjunturas específicas de mudança e transformação ocorridas observados pela via da arqueologia ou da historiografia, que justificam as monografias ou as interpretações de conjunto, e permitem compreender, por exemplo, uma região de engenhos eólicos como a que se implantou do Lavradio ao Barreiro ou um conjunto homogéneo de “moinhos” de maré estabelecidos no Estuário do Tejo, na margem esquerda e direita do rio. Para um “restauro” mnemónico e físico identitário da moagem pré-industrial do Barreiro I - A história e a arqueologia são essenciais para a valorização deste património pré-industrial, mas a salvaguarda e conservação do património cultural faz-se com os vestígios sobreviventes, se possível com o património técnico integrado. Temos em Portugal exemplos. O mais paradigmático é o Moinho de Maré de Corroios, concelho do Seixal. Outros casos são o Moinho de Maré do Cais de Aldeia Galega, no Montijo, o Moinho de Maré da Herdade da Mourisca, em Setúbal e o Moinho de Maré da Quinta do Marim, em Olhão ou o de Dom Abade em Viana do Castelo. Estes são os bons exemplos. Outras estruturas de engenhos de maré têm sido protegidas, através de classificação patrimonial (estão neste caso os moinhos de maré do concelho do Seixal, ainda que votados a um prolongado abandono das entidades públicas
4 Na documentação surge também a expressão mais elementar de “engenho”, enquanto referente à unidade de transformação técnica existente, por exemplo num moinho, quando se refere, por exemplo a um moinho de maré e se diz com 3, 4 ou 5 engenhos de moagem (considerando um rodízio e sua correspondência a um par de mós). 5 Não sendo impossível ter como objectivo a determinação da intangibilidade através da documentação (mesmo na sua escassez e na ausência dos intervenientes directos), esses estudos são do foro da cripto-história.
FUNDiÇÃO 13
Moinhos a sul do tejo - Barreiro e privadas, o de Alhos Vedros e o da Quinta do Canal, em Lavos, concelho da Figueira da Foz, conhecido por Moinho das Doze Pedras 6 ) ou recuperadas e beneficiadas para outras funções (como o Moinho de Maré da Asneira, Vila Nova de Mil Fontes, concelho de Odemira e os dois moinhos do sítio das Fontes, do complexo regional do Rio Arade, pertencentes hoje ao parque municipal, em Estômbar, concelho de Lagoa). Mas os bons exemplos não são a realidade. O estado de abandono dos vestígios é a dominante não sendo até possível avaliar o que ainda resta em termos de conservação passiva, mesmo para os exemplares classificados pela DGPC ou protegidos pelas autarquias. No Barreiro, dos moinhos eólicos (fig. 2)
O estado eminente de desaparecimento dos embasamentos de calcário aparelhado onde, outrora, se alojavam os maquinismos motores, bem como a ruptura dos muros definidores dos reservatórios de água salgada foi sempre o leit-motiv daquele movimento de renovação do urbanismo barreirense. O património cultural identificado eram as âncoras. Aliás, o que sempre esteve em causa eram razões de planificação urbana, que Cabeça Padrão, enquanto arquitecto de nível internacional, tipificou num dos números da revista Um Olhar sobre o Barreiro (PADRÃO, 1985, p. 9) e noutros trabalhos.
Alguma coisa chegou a ser feita, ainda que com atraso. A incompreensão da natureza ecológica e tecnológica dessas ruínas revela-se num facto surpreendente por aquilo que significa e contém da atitude de valorização patrimonial, embora mitigada. Procurando devolver-se à comunidade os valores ambientais e paisagísticos da Alburrica, construíram-se passadiços de fruição e lazer, onde se assinalam os nomes dos antigos moinhos de maré em ruína, o que é de salientar. Todavia, não se reconstruiram os muros das represas, não se restituíram as características “caldeiras”, nem se consolidaram pelo menos as infraestruturas da arquitectura hidráulica destes moinhos de água salgada. Essas obras podiam garantir uma perpetuidade dos referidos embasamentos motores. A restituição das caldeiras evitava a perda da individualidade de cada um deles, como elementos estruturantes da paisagem e como valores ecológico-ambientais. Acresce que querendo aumentar-se o espelho de água do esteiro de Coina no Barreiro, contribui-se para o aumento do assoreamento, que Paisagem com moinho, aguarela de Alfredo Roque Gameiro, o mecanismo das marés facilitava por via da entrada e saída 1893. Casa Museu Braamcamp Freire, Santarém. Inventário da água nas caldeiras, através do funcionamento das portas Nº: MMS/005917 BF de água (comportas). Tudo isso teve como consequência a perda do efeito pedagógico que a diferença de marés prosobrevivem apenas quatro edifícios (dois cilíndricos e dois porcionaria aos habitantes da cidade que demandam aquele tronco- cónicos), descaracterizados pela longa alteração de espaço para contacto com a natureza. funções, embora com ciclos de obras de “restauro”, sendo que todos eles são documentos históricos do período mais O urbanismo foi pois uma das razões que motivaram os esavançado da renovação tecnológica da moagem no Barreiro. tudos dos “moinhos” pré-industriais do Barreiro, dado que Os da Alburrica, revelam uma grande resistência enquanesses engenhos foram valorizados como património cultural to vestígios, até porque foram desde o século XIX motivos em Portugal, somente a partir de 1965. Guardar as memórias paisagísticos de celebres pintores, como Silva Porto (1850que detêm é fundamental para o futuro. Serve a educação e 1893) ou Roque Gameiro (1864-1935). a cultura. Em relação à educação – essencial para a cidadania, para a democracia, para a formação cultural e racionaNo que se refere às estruturas e ruínas de moinhos de maré, lismo crítico da população – fala-se constantemente na neassistiu-se à sua maior degradação e irreversibilidade depois cessidade de a não descurar, pelas vantagens da qualificação de 1993, atendendo ao ponto mais alto do movimento cívico das novas gerações, que no património cultural preservado barreirense para a sua salvaguarda, encabeçado por Joaquim encontram motivos indispensáveis à sua formação científica Cabeça Padrão (1921-1993), por Augusto Pereira Valegas (já e tecnológica. Quanto à cultura, quanto maior ela for mais falecido), por Ana Leal, por Carla Marina e por mim próprio. se assiste à mudança de paradigma de Portugal, como país A situação é hoje muito preocupante, depois da inviabilidade moderno, desenvolvido, inteligente e cosmopolita. do restauro do Moinho Pequeno da Alburrica que, na altura (1989-90), se encontrava ainda de pé e era tido como uma II – Sobre os engenhos pré-industriais do Barreiro, do ponto âncora para a valorização da frente rio do Barreiro, na parte de vista da amplificação do seu conhecimento reservo-me paisagística mais emblemática da cidade, dada as relações para um trabalho posterior. Neste lugar, poderei dizer que os ferroviárias de simpatia com as margens periféricas do rio estudos até hoje publicados no Barreiro contribuíram para Tejo, no esteiro de Coina, a componente urbana formal da um retrato mais fiel e fiável da realidade da moagem préRua Miguel Paes e os vestígios pré-industriais que se ofere-industrial e proto-industrial do concelho. Dispenso-me tamciam à fruição pública e à memória histórica e cultural da bém agora de equacionar o estado da questão. No entanto, cidade. 6
Este moinho foi objecto de uma intervenção arqueológica.
FUNDiÇÃO 14
Moinhos a sul do tejo - Barreiro a investigação continua e continuará sempre em função da evolução dos conceitos e das metodologias postas em prática. E ainda bem, para que o conhecimento da história e do património sobrevivente se amplifique. A identidade dos engenhos de moagem do Barreiro só pode ser reconhecida no concurso da pesquisa histórica multifacetada em conjugação com a arqueologia dos raríssimos vestígios que chegaram até nós. Este ponto nevrálgico da investigação pressupõe muitas cautelas. Primeiro, impõe observá-los por categorias: hidráulicos e de maré; eólicos e de armação. Depois tentar compreendê-los em função do lugar onde foram construídos e descobrir as suas pertenças (inseridos em quintas, herdades, esteiros, marinhas), estabelecer as razões da sua construção e o papel que tiveram como direitos e banalidades dos seus proprietários históricos e vê-los como bens que serviram as populações e os seus proprietários, nas diferentes conjunturas do país. Compreender como eram aforados, arrendados, divididos e partilhados pelos senhores e rendeiros, que obrigações respondiam em termo de erário público, de instituição religiosa ou religioso-militar e até garantia de financiamento da caridade pública daquelas épocas. Também servem para compreender a formação de primitivas empresas familiares capitalistas relacionadas com a propriedade agrícola, com os negócios do cereal e a participação da tecnologia na oferta de farinhas. Podemos observá-los ainda na sua complementaridade como resposta motora diversificada, ou em função das estações do ano (alternância e complementaridade entre hidráulicos e eólicos), ou como unidades fabris permanentes de moagem, cooperando para o desenvolvimento comercial (moinhos de maré). A nossa contribuição neste estudo posiciona-se, assim, mais a nível dos temas que elencamos para uma futura resolução por parte da investigação. Vejamos um quase questionário.
o elemento principal de identificação, pelo que há moinhos de maré gémeos, isto é, estabelecidos no mesmo local, os quais, embora inicialmente distintos, tendem a juntar-se e a passarem a ser apenas um (ver os casos do Moinho do Cabo (fig. 3), da Verderena e do Lavradio).
Fig. 3 - Alburrica. Moinhos de maré do Cabo e Grande antes do abandono social. Fotografia, cerca de 1950. João Cabeça Padrão. In Olhar Sobre o Barreiro, III.ª Série, n.º 1, Barreiro, Novembro de 1992, p. 45
b) As datações e cronologias estabelecidas, assentes em documentação arquivística, aperfeiçoaram-se muito em relação à data da publicação dos primeiros trabalhos (NABAIS, 1986; CUSTÓDIO, 1986 e 1989). Hoje é possível identificar épocas mais remotas de construção de moinhos de maré no Barreiro (fins do século XV, inícios do século XVI). De um ponto de vista geral, são estruturas de moagem de cereal evoluídas – como veremos – que parece patentear, a dado momento histórico (séc. XV), uma correspondência com a necessidade de fornecimento de farinhas a Lisboa, enquanto grande cidade a nível mundial e à causa dos Descobrimentos Portugueses, intervindo como matéria-prima no fabrico de bolacharia de embarque. Estes aspectos foram assinalados anteriormente, mas ainda falta imensa investigação para identificar as unidades de produção que não podem estar apenas em Vale do Zebro.
c) De acordo, com os estudos de Ana Leal e Augusto Valegas, parece que o estabelecimento de moinhos hidráulicos de água doce se verificou no antigo concelho de Coina (hoje integrado no Barreiro), sendo anterior à construção dos moinhos de maré (séc. XIII). A influência orográfica da Serra da Arrábida explica logicamente esta situação. Ora, os moinhos identificados foram incluídos na História dos Moinhos do Barreiro, embora não pertençam ao horizonte administratiPor exemplo: vo do Barreiro, na Idade Média, nem na época Moderna. Por a) Em relação aos quantitativos de moinhos de maré, esta- outro lado, são pertença de uma outra cultura tecnológica, belecidos entre 1986 e 1993 (LEAL & VALEGAS, 1993), é pos- da qual os moinhos de maré são uma variante cultural, emsível ir mais longe? Da nossa parte passámos a ter o registo bora remota. Em geral, são engenhos situados em paisagens de 15 engenhos e não 12, para falar apenas naqueles que lineares, pressupondo a construção de açudes e de levadas foram construídos na actual área administrativa do concelho e a implantação do engenho numa ou outra margem do curdo Barreiro. Todavia, quando se fala de inventário é preciso so de água, por vezes ligando-se a pontes como o Moinho acautelar o seu significado, pois trata-se de uma ferramenta do Alimo, de Coina, no final do século XVIII. Fica ainda por de conhecimento dos edifícios existentes e não existentes. saber que tipos de motores pressupunham – rodízio ou roda Não significa, nem a sua diacronia, nem a sua sincronia de vertical. funcionamento. Para cada época histórica é fundamental avaliar o espectro real dos engenhos edificados. Note-se d) O estudo dos moinhos de maré requer que as estruturas que a identificação de moinhos em esteiros, pressupõe uma sejam analisadas a partir dos tratados de construção de ar7 análise cuidada da cartografia, pelo facto de ser a caldeira quitectura hidráulica , não basta a observação das ruínas. Neste aspecto os estudos dos do Barreiro encontra-se ainda
1.º Em termos de inventário, estará tudo feito? Não nos parece, dado que em relação à articulação entre estudo documental (novas fontes, hermenêutica das fontes conhecidas, diversidade de áreas documentais) e análise tecnológica (na perspectiva acima enunciada), impõe-se fazer cruzamentos entre dados.
FUNDiÇÃO 15
Moinhos a sul do tejo - Barreiro por fazer, pois faltam monografias. O estabelecimento de tipologias (SANTOS, 2001) revela-se inconsequente (fig. 4)
Fig. 4 – Esquema das Tipologias dos Moinhos de Maré do Estuário do Tejo. In Santos, 2001, p. 107. e não é acompanhado por uma análise arqueológica dos vestígios ainda existentes (isto não se aplica aos engenhos desaparecidos). A razão principal radica no facto da tipologia estabelecida por Maria Eugénia de Jesus Santos atender também às transformações industriais que, a maioria dos ditos moinhos de maré, foram sujeitos entre a segunda metade do século XIX e o encerramento das suas portas. Repare-se, por exemplo que o Moinho do Cabo foi objecto de instalação de uma fábrica de descasque de arroz (numa parte), entre 1884-1913 e de uma moagem completa (noutra parte), seguindo-se uma fábrica de cortiça da firma Francisco Gameiro & Irmãos. Por sua vez, no Moinho Grande instalou-se uma serração de madeiras (1892-1909) e uma fábrica de adubos orgânicos de Henry Burnay. Uma fabriqueta de massas alimentícias esteve instalada no Moinho Pequeno e, na Verderena, os dois moinhos de maré, um quase perpendicular ao outro, estiveram na génese de importantes fábricas de moagem a vapor (instalada num moinho de maré), do estabelecimento da Sociedade Industrial do Bonfim, Ld.ª (1940) e de um corticeira, de Theodoro Rubio & Filhos (CAMARÃO, 2012).
Fig. 5 - Moinho do Barão do Sobral. Corte. Desenho colorido arquitectónico do projecto. 1818. ANTT.
a) A pressão da procura de farinha contribui para a diversidade tecnológica dos engenhos eólicos do Barreiro. Em primeiro lugar foram identificados um conjunto fluvial de oito moinhos de vento de carácter tradicional (horizonte cronológico: séculos XVII-XIX), mas de tradição tecnológica mediterrânica (velame de panos) 8 . Faltam documentos para uma história mais minuciosa das suas funções em trabalho, assim como informação de obras ali realizadas e ainda de investigação arqueológica para datar e caracterizar os moinhos “anões” da Alburrica (poente e nascente), como ficaram conhecidos na gíria popular. Um deles tem um registo de azulejo, datado de 1852, mandado colocar por José Francisco da Costa, dedicaIII. Quanto aos engenhos eólicos(Fig. 5), que constituíram ob- do à Sr.ª do Rosário (fig. 6). jecto de motivação pictórica de artistas plásticos ao longo do século XIX e XX, quase tudo foi dito. Seguem mais algumas Este registo não significa que o moinho fosse construído nesta data, mas sim, de acordo com a mentalidade da época, notas. para “sagrada” protecção do moinho (ver inscrição 9 ). No
7 Essenciais nesta perspectiva, porque foram escritos de modo a auxiliar os construtores de moinhos hidráulicos e de maré de moagem e de outros engenhos onde a água era o motor. Entre eles ver, BELIDOR, Bernard Forest de, Architecture Hydraulique, ou l’Art de conduire, d’Elever et Ménager les Eaux pour les Différents Besoins de la vie. A Paris : chez Charles-Antoine Joubert, Librairie du Roi pour l’Artillerie & le Génie, 1737-1753. Na BNP existem quatro tomos de diferentes edições desta obra. 8 Nada a ver com os denominados engenhos eólicos ditos portugueses, de pás horizontais, de origem persa, difundidos pela civilização árabe, que entraram no território português no século X. Deste tipo, sobreviveram exemplares até ao século XVI (segundo se considera). Depois desapareceram quase misteriosamente, substituídos por moinhos fixos de poste ou cilíndricos de tejadilho móvel e ainda por moinhos giratórios. 9 A inscrição do Azulejo, hoje mutilada, dizia o seguinte (ver foto): A[ve] M[aria] / N.ª Sr.ª DO ROZARIO / DA VILLA DO BARREIRO / JOZÉ FRANCISCO DA COSTA / ANNO DE 1852.
FUNDiÇÃO 16
Moinhos a sul do tejo - Barreiro motores, de soluções técnicas anteriores à Revolução Industrial ou de edifícios característicos de uma economia ainda senhorial. Impõe pois que a discussão científica clarifique cada vez mais o tangível e o intangível que é a nossa herança comum. Bibliografia CAMARÃO, António Nunes (2012), Os antigos moinhos de maré da Verderena, PDF. Património Barreiro. Espaço Memória. Publicações. Câmara Municipal do Barreiro. Divisão de Promoção Cultural. https://patrimoniobarreiro.wordpress. com/publicacoes/artigos/os-antigos-moinhos-de-mare-da-verderena [Acedido em 17-02-2017]
Fig. 6 - Moinho «anão», com registo de azulejo dedicado à Sr.ª do Rosário do Barreiro, 1852. Fotografia de Maria Leonor Campos, Junho de 1978. Colecção particular.
CUSTÓDIO, Jorge (1986), “As questões da moagem no Barreiro na 1ª metade do século XIX e o moinho gigante do Barão do Sobral”. Um Olhar sobre o Barreiro, nº 4, 1986, pp. 7-15.
CUSTÓDIO, Jorge (1989), “Moinhos de Maré em Portugal. Algumas Questões do seu Estudo e Salvaguarda sob o Ponto de Vista do Património Industrial”. I Encontro Nacional sobre mesmo século foram construídos dois moinhos de vento de o Património Industrial. Actas e Comunicações. Associação tecnologia inglesa, o “gigante”, do Barão do Sobral (fig. 5), no Portuguesa de Arqueologia Industrial, vol. II. Coimbra: CoimMexilhoreiro (1820) e o do James Hatherley ou Jim (1827), bra Editora, pp. 343-389. na Praia da Recosta (actualmente propriedade do município) e ainda um moinho de tecnologia holandesa, este sim edifi- CUSTÓDIO, Jorge (1990), “Método Comparativo e Método cado, em Alburrica, por um dos membros da família Costa, Regressivo na Detecção do Moinho Gigante do Barão do em 1852 10 (CUSTÓDIO, 1990) e conhecido pelo nome de “Gi- Sobral Erigido no Barreiro”, I Encontro Nacional sobre o Pagante”. trimónio Industrial. Actas e Comunicações. Associação Por-
b) Os quantitativos hoje conhecidos (11 moinhos) requer ser observado na perspectiva conjunta da sua implantação na margem esquerda do Tejo, junto às praias do Mar da Palha ou da foz do Tejo (Trafaria). Note-se que os moinhos de vento da margem esquerda não se limitam ao estuário e à foz. Há evidências no Tejo médio, junto às lezírias ribatejanas, numa linha de continuidade que chega a Muge e a Almeirim. A dimensão desta mancha de eólicas de moagem requer ser cartografada. Nos últimos anos, os engenhos que abordamos acima adquiriram alguma notoriedade patrimonial, não só no estrangeiro, como em Portugal. Houve, é certo, uma ligeira mutação de sentido. Até praticamente ao início do século XXI (Carta de Nizhny Tagil, 2003), eram integráveis num conceito amplo de “património industrial”. Houve, no entanto, um maior aprofundamento das suas características tecnológicas e da ordem da precedência no tempo histórico, que a arqueologia tem vindo a clarificar. Daí a alteração de designação. Hoje integram o conceito de “património pré-industrial”. Acontece que muitos desses engenhos foram construídos durante o período da industrialização. Como que a revelar, a força do passado noutro tempo histórico. Como que a marcar a transição entre momentos de mudança. Como que a pretender impor-se à evolução, persistindo através de mecanismos
tuguesa de Arqueologia Industrial, vol. II. Coimbra: Coimbra Editora, pp. 737-761.
LEAL, Ana de Sousa & VALEGAS, Augusto Pereira (1993). História dos Moinhos do Barreiro. Um Olhar Sobre o Barreiro. III.ª Série, n.º 2 (número especial), Novembro. Barreiro: Edição de Augusto Pereira Valegas. NABAIS, António J. C. Maia (1986), Moinhos de Maré: património industrial, Seixal: Câmara Municipal do Seixal PADRÃO, Cabeça (1985), “Moinhos da Alburrica, Pequeno contributo para o seu conhecimento”, Um Olhar Sobre o Barreiro. I.ª Série, n.º 3, Dezembro. Barreiro: Edição de Augusto Pereira Valegas, pp. 7-18 SANTOS, Maria Eugénia de Jesus (2001), Moinhos de Maré – Património Industrial. Dissertação para a obtenção do grau de Mestre em Reabilitação da Arquitectura e Núcleos Urbanos da Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa.
10 Na parede fronteira ao esteiro de Coina, foi colocada uma epígrafe, em pedra que diz o seguinte: FOI MANDADO / EDIFICAR / POR / JOZE PEDRO DA COSTA / NO ANNO DE 1852. A presença dominante da família Costa, antigos moleiros, nos moinhos de maré da Alburrica e da Verderena e nos engenhos eólicos e indústria de moagem do Barreiro exige estudos de natureza monográfica.
FUNDiÇÃO 17
Moinhos a sul do tejo - Barreiro
Viagem aos moinhos Nuno Soares
Num destes dias dei uma volta pelos passadiços e fui
até aos Moinhos de Alburrica (ex-libris), antes conhecida como Cabo de Pero Moço. Fui com o intento de exercitar as pernas, caminhando um pouco.
As azenhas, também moinhos de água, casas rústicas de pedra, nas margens de água corrente, cuja força motriz é idêntica, o impulso forte da água, tinham uma roda vertical e engrenagem transmitindo a rotação ao veio ligado á mó.
Cansado, parei, e olhando aqueles engenhos destinados a moer, especialmente cereais, dei comigo a imaginar.
Já os moinhos que tinha à minha frente eram moinhos de vento, virando o velame contra o vento. Do tipo “fixos”, Alguém disse que “a imaginação é o sentido dos sentidos, rodando apenas o tejadilho com todo o sistema de captação de vento e assentes sobre um apoio. o único sentido verdadeiro”. Outro alguém acrescenta que “existindo evolução, só evo- E dei por mim a imaginar mais. lui a imaginação, sendo esta a qualidade humana fundamental – pelo menos no nosso estado coletivo, pois é ela O Barreiro sendo beijado pelas águas de dois rios e quando a sua principal atividade económica era a vinicultura, a que evolui”. Fernando Pessoa. agricultura e a pecuária, naturalmente que muitos destes Aceitando isto, penso que ao visitar um lugar, não seja engenhos frutificaram. Claro que sim! Essa história foi e apenas estar lá e observá-lo. É dar aso a que se possa co- será contada por outros, vede “Um olhar sobre o Barreimunicar com a imaginação, o tal sentido verdadeiro ou, ro”. como também dizem “o nosso órgão da alma”.
A minha imaginação prosseguiu para mais longe.
E ali estive, e vi, e imaginei.
Portugal, país plantado à beira mar, com inúmeros rios a Aqueles moinhos, as suas mós, seriam acionadas pelo ho- atravessá-lo, também naturalmente terá espalhado pelo mem? Desde a pré-história que o faziam, ou seriam, as seu território muitos moinhos. É verdade. Quem por cá atafonas, acionadas por animais como na época romana? der uma volta, a par e passo, encontra um moinho, ou um conjunto de moinhos. Não, esses eram os chamados moinhos “a sangue”. Olhando em redor vejo um outro engenho que aproveita- Moinhos que serviram os propósitos dos seus construtores e que hoje servem novos interesses, exceção feita va as marés para se movimentar. a muito poucos que ainda estão ativos, moendo cereais, Ergue-se junto a um reservatório de água – caldeira – o como por exemplo, em Bombarral, Cantanhede, Bragança, qual se enche de água durante a praia-mar. Na baixa-mar Caldas da Rainha, Celorico de Basto, Covilhã (de acordo a caldeira era aberta e a força da água movimentava o com um sistema semi-comunitário, dando assistência a moinho. Tinha assim o inconveniente de funcionar apenas várias pessoas), ou Mértola, Nazaré, Odemira (a laborar algumas horas por dia. Contudo tinha um funcionamento para o povo), Ourique ou Pampilhosa da Serra, entre alinteiramente regular, pois as contingências meteorológi- guns mais. cas, como o vento, não perturbavam o seu funcionamento. Eram engenhos com rodízios de roda horizontal e veio Como a imaginação não pára, outros servem o turismo. O turismo rural como por exemplo, em Barcelos, que ligado à mó. são pintados de amarelo, Bragança, são moinhos-casas,
FUNDiÇÃO 18
Moinhos a sul do tejo - Barreiro
Figueira da Foz – moinho das Doze Pedras, considerado Imóvel de Interesse Público desde 1990, ou Fundão, cercado por um parque de lazer, ou Guarda (Rocamondo) é cartão-de-visita, bem como em Loures (Apelação), ou em Mértola, ou em Montalegre onde em 8 de setembro há festa rija e animada junto aos moinhos nos regatos, ou em Odemira, com visitas aos domingos. Muitos, em sítios mais elevados donde se admira paisagens deslumbrantes, tais como em Azambuja, Chaves, Esposende (classificado como valor concelhio desde 1976 – são 7 moinhos), Mortágua, Oliveira do Hospital, Palmela, entre muitos outros, que por esse Portugal fora servem para embelezar as terras, vilas e cidades, e atrair os seus visitantes.
Há moinhos construídos em madeira, como em Mira, ou em granito, como em Bragança.
Esta é uma temática que preocupa muita gente. Quando uma instituição pública, que deve servir os interesses de todos, se substitui por uma entidade privada, aquilo que era de todos, passa a servir os interesses de um, vá lá, de uns quantos. (Ex. Luta pelo Forte de Peniche.)
Em Mértola, os moinhos de vento são pontos de interesse turístico. Estiveram desativados durante várias décadas, mas o povo pediu a sua reativação e com a sua luta, hoje encontram-se a laborar.
Há moinhos movidos a gasóleo, como em Odemira, ou elétricos como em Arcos de Valdevez.
Apenas como pormenor, dizer que os moinhos de Cabeceiras de Basto e alguns outros, foram mandados construir por D. Dinis (no Barreiro os de construção mais antiga são os Moinhos de Coina – referência ao Séc. XIII – hoje desaparecidos) e os de Oeiras pelo Marquês de Pombal. Outros serviram de Posto de Comando na Batalha do Buçaco, o do Gen. Inglês Crawford e o do seu opositor Mar. Massena, em Mortágua. Alguns servem para museus, aqui bem perto de nós, na Na Horta encontramos moinhos de origem flamenga. Moita e no Seixal. Poderíamos contar muitas histórias, melhor dizendo, lendas, à volta dos moinhos. Conheço as relacionadas com Há moinhos com interesse arqueológico, como em Abran- os moinhos de Almeida e Carregal do Sal. Aguço apenas tes, Arganil, Cabeceiras de Basto, Figueira da Foz, Amado- o apetite. ra, ou no Barreiro, entre muitos outros. Dei apenas um panorama muito breve e muito, muito inContudo alguns moinhos são de particulares, como em completo, da história dos moinhos. Palmela, que servem de habitação, ou em Beja, um que serve de escritório. Os moinhos são um mundo e o mundo somos nós.
Para os moinhos do concelho do Barreiro, o povo através das suas associações de defesa do património já se maniEntão todos deixam de usufruir daquele bem. Mas conti- festaram. As autarquias dizem que SIM. Resta saber até nuemos. quando. Os restos já são poucos.
FUNDiÇÃO 19
Moinhos a sul do tejo - Barreiro
Os Moinhos de Maré e a Expansão Marítima Portuguesa Carla Marina Santos
Entre 1475 e 1524, em pleno período da Expansão Marítima Portuguesa, assistimos a um aumento significativo de moinhos de maré no Estuário do Tejo. Particularmente no braço do Coina, hoje pertencente ao Concelho do Barreiro.
Superada a Crise de 1383-1385, Lisboa passa definitivamente a ser o centro de gestão do País, para esta confluem gentes de “ muitos e desvairados lugares” e desenvolvem-se novas profissões ligadas ao surgimento da burguesia e à construção da cidade. Processo que reflectirá as inúmeras sínteses culturais e técnicas que se foram operando no Estuário do Tejo, devido à sua privilegiada e estratégica localização nas rotas entre o Norte e o Sul.
dos pela Coroa e pela Ordem de Santiago, no âmbito da política expansionista. A Coroa para garantir o abastecimento da Capital, o das tripulações dos navios que partiam em expedições e, ainda, para o abastecimento do Terço da Armada Real e dos Fortes de Costa, necessitava confeccionar em larga escala o biscoito. A Ordem de Santiago com a finalidade de aproveitar de forma eficaz os recursos existentes nos territórios sob a sua jurisdição e o bom negócio que a Coroa lhe oferecia de farinhar para abastecer os Fornos Reais de Biscoito, em Vale de Zebro, onde a partir de 1448 a produção do biscoito era monopólio da Coroa, defendendo interesses, comuns, como adiante se verá.
Assim o incremento da construção de moinhos de maré, neste espaço do estuário, coincide, por um lado com o crescimento demográfico de Lisboa, que segundo a numeração de 1527, teria cerca de 70.000 residentes, por outro com a entrada em funcionamento, entre 1448 e 1488, do Complexo Real de Vale de Zebro, “...e mais adeante meia légua o Lavradio,freguezia, e a vila do Barreiro, e as freCresce a urbe demográfica e economicamente e o seu guezias Telhaes e Palhaes, e os moinhos e fornos d`el-Rei, abastecimento em géneros torna-se mais exigente, nocousa rica; “ (Frutuoso, Gaspar, 1924) localizado em Pameadamente em farinha para a confecção do pão, alimenlhais, junto ao esteiro do Coina. to base. Paralelamente, inicia-se a Empresa da Expansão Marítima Portuguesa, e à medida que esta se expande, Para garantir a instalação e laboração do Complexo o rei num controlo monopolista da Coroa, novas necessidades adquire não só os terrenos da Quinta da Ramagem, como de abastecimento vão sendo sentidas, como a do biscoito também um pinhal nas imediações pertencente ao Mosou bolacha de embarque. teiro de Todos os Santos. Deste modo, podemos afirmar que a construção e actividade dos moinhos de maré no Estuário do Tejo se integram na zona de influência económica da Capital, questão muito bem documentada.
Sabemos que a produção de biscoito se torna essencial para o abastecimento das armadas, sobretudo depois da descoberta do caminho marítimo para a Índia, pelo que a necessidade de farinha tinha de ser satisfeita através do recurso a moinhos localizados nas proximidades do ComSobretudo, a partir do século XV, verifica-se um progresplexo. sivo interesse na instalação destas estruturas, principalmente na margem esquerda do rio Tejo, no esteiro do Do livro “ Sistemas de Moagem” extraímos a seguinte pasCoina. Não são alheios a este interesse os incentivos da- sagem de António Sérgio, bem esclarecedora do volume FUNDiÇÃO 20
Moinhos a sul do tejo - Barreiro de farinha necessária: “Defronte da Cidade, na outra margem, prolonga-se para Sul um esteiro do Tejo onde vem desaguar a ribeira do Coina, que discorre numa várzea de bons terrenos com hortas de que se abastece a Capital. Cerca do esteiro, em Vale-do-Zebro, havia fornos de biscoito para as armadas, vendo-se hoje ruínas de vinte e sete; nos celeiros que lhe estavam conjuntos cabiam nove mil moios de seriais (uns sete milhões e quatrocentos mil litros). Para moer eram empregados vinte e sete moinhos de água, actuados pelas represas das marés.”.
Lourenço, cavaleiro da Casa Real, feitor e tesoureiro das Coisas e Feitos da Guiné, mais tarde Feitor da Casa da Mina, membro do Conselho de D. Manuel I, que recebeu de sesmaria, em 1485, o esteiro do Bugio, no rio Coina; e também o de Pero Barcelos, escudeiro da Casa do Infante D. Fernando ( administrador do Mestrado de Santiago, desde 1461), que obtêm, em 1487 uma carta de sesmaria para edificar moinhos de maré no Cabo de Pero Moço, em Alburrica; o de Pero Quaresma, em 1500, escudeiro do Mestre de Santiago, tem o seu nome ligado a um moinho de maré na Telha, desempenhou o ofício de almoxarife dos Fornos de Vale de Zebro entre 1497 e Março de 1500 e, por último, o de Brás Afonso de Albuquerque, filho natural de Afonso de Albuquerque, capitão-mor da Índia, que possuía um moinho junto ao Cabo do Alcoitão. Nesta enumeração é interessante verificar que todos estes nomes se encontram ligados à Coroa e à Ordem de Santiago, aos seus sucessivos Mestres, que por sua vez eram infantes ou príncipes, mostrando de forma clara existir um jogo de influências convergente aos interesses da Coroa monopolista.
Vale de Zebro planta Complexo Real – séc. XV e XVI in http://memoriaefuturo.cm-barreiro.pt/pt/portal/espaco-memoria/ rota-do-trabalho-e-da-industria/proto-industria/complexo-real-de-vale-de-zebro.html
Esta ligação torna-se mais clara a partir do século XV, quando o Príncipe D. João, futuro D. João II, assegura a administração do Mestrado, que, desde 1550 até à integração da Ordem no domínio da Coroa, será feita pelossucessivos príncipes herdeiros. António Nabais nos seus estudos confirma a estreita relação entre o incremento da actividade de fabrico de biscoito no Complexo Real de Vale de Zebro e o aumento de moinhos de maré neste período relativo à Expansão Marítima. Segundo o mesmo autor o próprio “ Regimento dos Fornos de Vale de Zebro”previa regras que garantiam a qualidade da farinha, a exclusividade do seu fornecimento para os fornos do rei, as condições de higiene, limpeza e conservação dos moinhos. De acordo com o mesmo regimento a qualidade da farinha era controlada pelo Meirinho dos Fornos. Desta forma, no braço do Coina, para além do moinho do Complexo farinhavam para os Fornos de Biscoito do lado Planta de Vale de Zebro 1843 in https://reservasmuseologicascmb.wordo Seixal 5 moinhos, do lado do Barreiro 10 moinhos, de- dpress.com/02/val-de-zebro-complexo-real-sec-xv-e-xvi/ signados anteriormente. Silveira, Ana Cláudia, “ Novos Contributos para o Estudo dos Moinhos de Maré
Tal como em todo o estuário, no Barreiro é possível identificar, neste período relativo à Expansão Marítima e ao desenvolvimento da Cidade de Lisboa, ligações entre a Coroa, a Ordem de Santiago e a Nobreza no que se refere ao desenvolvimento económico das zonas ribeirinhas deste pequeno mar mediterrânico que o estuário configura. No território do Barreiro surgem nomes que ilustram a nossa afirmação e dos quais salientamos: o de Duarte Galvão, fidalgo da Casa Real, filho de Rui Galvão (escrivão da Câmara de D. Afonso IV e notário geral do reino) a quem foram concedidos de sesmaria, em 1509, esteiros junto ao Lavradio para edificar moinho de maré; o de Afonso Álvares, desembargador dos Feitos da Mina e Fernando
do Estuário do Tejo: os empreendimentos concretizados a partir da 2ª metade do século XV”, in “ Olhares sobre a História. Estudos Oferecidos a Iria Gonçalves”, Caleidoscópio, 2009. Nabais, António J. C. Maia, “ Moinhos de Maré: património industrial”, colecção História do Concelho do Seixal, ed. Câmara Municipal do Seixal, 1986. Marques, A. H. de Oliveira, “ Introdução à História da Agricultura em Portugal. A Questão Cerealífera Durante a Idade Média”, 2ª ed. Cosmo, Lisboa, 1968.
Frutuoso, Gaspar,” Saudades da Terra”, livro IV, vol. I, Ponta Delgada, TIP. DO “Dário dos Açores”, 1924, p. 243, 244. Nabais, J. C. Maia, “Moinhos de Maré: património industrial”, colecção História do Seixal, ed. Câmara Municipal do Seixal, 1986Oliveira, p.29. Leal, Ana de Sousa, “ Documentos para a História do Município do Barreiro (séculos XV-XVI) – Marinhas e Moinhos no Cabo de Pero Moço (1487-1592), in “ Um Olhar sobre o Barreiro, II Série, nº 4, Abril de 1991. Leal, Ana de Sousa, “O Barreiro e a Expansão Portuguesa. Imagens do Concelho dos Sécs. XV a XVII,1ª Ed. Câmara Municipal do Barreiro, 1992.
FUNDiÇÃO 21
Moinhos a sul do tejo - Barreiro
A Indústria Moageira na Tradição Industrial do Barreiro Carla Marina Santos
Reflectir sobre o nosso passado é, inevitavelmente, indústria base e geralmente num mesmo lugar físico”.
perceber o percurso que forjou a nossa identidade. O que somos é produto milenar de homens e mulheres que, nos seus gestos quotidianos de trabalho e lazer, em processos de continuidade e ruptura, foram desenhando o nosso caminho. Neste, a indústria moageira é mais um exemplo, entre outros, de unidades produtivas especializadas que, durante séculos, se vão instalando no território que, hoje, configura o Concelho do Barreiro.
Barreiro e os Complexos Produtivos Este destino industrial que percorre o nosso devir assume, em vários momentos da nossa história, a forma de Complexo Produtivo, ou seja,” agrupamento funcionalmente integrado de empresas de cunho diverso que concorrem, sob uma administração comum, para uma produção particular centrada numa
FUNDiÇÃO 22
Facto que, em nossa opinião, parece ser um importante e motivador tema de investigação. O estudo dos vários complexos produtivos que aqui se instalaram pode, entre outros aspectos, ajudar-nos a dimensionar de forma mais objectiva a importância tecnológica e económica do Barreiro no todo nacional e até internacional; pode permitir-nos uma melhor compreensão da diversidade profissional, social e cultural das nossas gentes e justificar as explosões demográficas que ocorreram; objectivar as relações entre o nosso desenvolvimento económico e a ligação ao poder, quer se fale em ordens religiosas, nobreza, coroa, estado, ou capital financeiro, bem como permitir a compreensão de antigas tendências monopolistas. Quatro tipos de complexos surgem ao longo da nossa história: os Complexos Moageiros, o Complexo Real de Vale de Zebro, o Complexo dos Caminho-de-Ferro no Barreiro e o Complexo da Companhia União Fabril.
Moinhos a sul do tejo - Barreiro
Os Complexos Industriais Moageiros Sobre este assunto guiar-nos-emos por Ana de Sousa Leal e Augusto Pereira Valegas que, expressam esta mesma ideia, da seguinte forma: “…Também aqui o espaço económico do moinho estendia-se a outro tipo de exploração, principalmente a de marinhas, para além da criação de viveiros nas caldeiras. A existência de um pequeno cais com seu barco, também pertença do moinho, transformava todo o seu envolvimento num pequeno complexo industrial, povoado por um número de gente especializada nas mais variadas ocupações: moleiro, ajudante de moleiro, feitor, rendeiro, carregador, arrais e companheiro do barco do moinho etc…” Relativamente às marinhas e salgadeiras, podemos afirmar terem existido no Barreiro, desde muito cedo, dada a configuração do nosso litoral e o facto de ser banhado por água salgada.
A esta actividade estiveram ligados nomes ilustres da nossa história como o de João Rodrigues ou João Roiz e Duarte Galvão. Na nossa memória, ainda, estão bem presentes as actividades ligadas a estes dois rios vitais no nosso desenvolvimento.E se muitos de nós não nos lembramos bem do passado rural, não é menos certo que a pesca, as marinhas, os viveiros de peixe persistem nas praias, e também através do nosso imaginário. Bibliografia “Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa, Ed. Círculo de Leitores, 2002 Ana de Sousa Leal e Augusto Pereira Valegas. Introdução. “Um Olhar sobre o Barreiro”. Nº 2 III série – Nov. 1993 Proença, José Caro “O Barreiro e os Descobrimentos Marítimos Portugueses”.João Rodrigues (ou Joam Roiz) descritor da geografia e da etnografia da Guiné, de que Valentim Fernandes se serviu para escrever o famoso “Códice de Munique”. João Rodrigues possuía marinhas no Barreiro, de cujo Concelho foi o primeiro alcaide-mor. Navegador e escudeiro de D. João II, João Rodrigues foi quem escreveu o documento do Tratado de Tordesilhas que aquele soberano ratificou em Setúbal, a 5 de Setembro de 1494. Duarte Galvão cronista e secretário de D. João II e, depois de D. Manuel I, era proprietário no Lavradio de marinhas e moinhos.
FUNDiÇÃO 23
Moinhos a sul do tejo - Barreiro
Alburrica – Mexilhoeiro Um conjunto patrimonial Câmara Municipal do Barreiro António Nunes Camarão (*)
A zona da Ponta do Mexilhoeiro e de Alburrica constituem
valeu ser apelidado de Moinho da Serração. Nos anos 20 do século passado a firma Henry Burnay & Cª., com sede em um conjunto patrimonial de interesse bastante relevante Lisboa, instala uma fábrica de moer e de misturar diversos para a História do Barreiro, com uma ocupação que remonprodutos de origem animal e vegetal e o imóvel passa a ser ta ao epipaleolitico e que ao longo dos tempos espelha a conhecido como Moinho do Burnay. diversidade da actividade proto-industrial do Concelho. No O Moinho Pequeno, assim chamado por ter apenas 3 caentanto a erosão induzida pelo moderno tráfego fluvial está sais de mós, laborou até ao primeiro quartel do século XX, a pôr em risco um legado que a continuar assim não chegará passando posteriormente a ter utilização de armazém de às gerações futuras. produtos que ao Barreiro chegavam do Ribatejo através das fragatas.
1
Contextualização Histórica
1.1 Primeira Ocupação A ocupação humana na zona do Mexilhoeiro e de Alburrica tem origens tão remotas quanto o epipaleolitico como se pode aferir pelas descobertas feitas no Mexilhoeiro de espólio arqueológico em Pedra (sílex, basalto, calcário, granito) recolhidos por um amador no final da década de 60, alguns desses achados serão mesmo, eventualmente remontáveis ao neolítico (furadores, pesos, machados). Tratando-se decerto de populações que dependiam e viviam em estreita relação com o rio não será de descurar a existência provável de fixação lacustre.
O Moinho de Maré do Braamcamp foi edificado no séc. XVIII nos terrenos da Quinta Braamcamp, possuía 10 pares de mós. A partir de 1897 instalou-se no edifício a Sociedade Nacional de Cortiças que ali ainda permanece.
1.3 Moinhos de Vento Os Moinhos de Maré tiveram o seu fim anunciado com o aparecimento na zona dos Moinhos de Vento que foram 5 e dos quais agora restam apenas 4 todos propriedade da CMB.. O Moinho do Jim construído em 1827 por Diogo Hartley, o sistema de velas original era de tipologia holandesa: velas de madeira rectangulares. Cerca de 1852 aparecem três outros moinhos construídos pela família Costa que também havia sido proprietária de moinhos de Maré. Moinho de Vento Gigante construído em 1852 por José Pedro da Costa. O sistema de velas é idêntico ao do Moinho de Vento do Jim (tipologia holandesa).
Moinho de Vento Nascente construído em 1852 por José Pedro da Costa e Moinho de Vento Poente construído em 1852 por José Francisco da Costa. Ostenta um registo em azulejo Na Idade Média a zona terá sido aproveitada para o estabe- da invocação de Nossa Senhora do Rosário. lecimento de salinas e disso temos o testemunho através de documentação sobre a reconversão destas em caldeiras para O recuo da linha de costa está hoje a por em risco as fundao estabelecimento de moinhos de maré, num total de 4, sen- ções do Moinho Gigante pelo que urge a sua consolidação e do o primeiro o Moinho do Cabo de Pêro Moço, mais tarde estabilização, a par da reposição das cotas da margem. denominado do Cabo da Lenha ou tão somente do Cabo, o qual é anterior a 1534, edificado de origem com 4 casais de mós, tendo-lhe sido posteriormente duplicada a capacidade moageira para 8 casais de mós.
1.2 Moinhos de Maré
Anteriores a 1652 estabelecem-se os Moinhos de Maré Grande e Pequeno. O Moinho Grande, como hoje é conhecido, dotado de sete casais de mós termina a sua actividade exclusivamente moageira cerca de 1892 quando aí passa a laborar a Companhia da Fábrica da Serração, de Orey Antunes & Cª., o que lhe
FUNDiÇÃO 24
Moinhos a sul do tejo - Barreiro 1.4 Pontes Cais
1860, 4 de Fevereiro
1.4.1 Primeira e Segunda Ponte dos Vapores do «A Companhia dos Vapores do Tejo tinha anunciado que deixava de aportar à Ponte do Mexilhoeiro desde o dia 23 Tejo e Sado
último nas carreiras que costumava fazer nos intervalos e soA actividade erosiva no limite da maré provocada pelo trá- mente tocaria ali na 1ª carreira da manhã vindo para Lisboa fego fluvial dos catamarans que ligam o Barreiro a Lisboa fez e na última da tarde vindo para Sul e vendo a Câmara que emergir no Mexilhoeiro um conjunto patrimonial de que as por este motivo se inutilizava a conservação da Ponte por se lhe cortar os rendimentos e tendo nesse sentido o oficiado gerações actuais quase já não tinham memória. a Direcção da dita Companhia esperando que em vista das razões ponderadas se resolviam a conservar as mesmas carreiras athé agora pelo contrário recebeu em resposta uma perfeita negativa … Por este modo se vem a inutilizar a conservação da Ponte que apenas poderá render para pagar ao guarda e conservar o farol que a câmara mandou constituir». A câmara resolveu levar o caso ao governo de Sua Magestade pelo Ministério das Obras Públicas. Lº Acórdãos CMB 1854/1861 1861, 29 de Outubro Representação à Câmara dos Deputados relativo ao contrato estabelecido entre a Cª dos Vapores do Tejo e o governo que pedem às Cortes para dar um subsídio anual à Cª para que a mesma seja obrigada a fazer pelo menos todos os dias duas carreiras ordinárias para a Ponte do Mexilhoeiro. A mesma representação será remetida ao nosso Representanteem Cortes António RodriguesSampaio. Lº Acórdãos CMB 1854/1861 A primeira e segunda ponte de atracagem da ligação Lisboa – Arrematação de um pilão de pedra lavrada na Ponte do MeBarreiro foram de facto no Mexilhoeiro, como as plantas que xilhoeiro (informa sobre as técnicas de construção) pág 170 aqui apresentamos o comprovam. A estrutura agora visível, pertencente à segunda ponte, e é constituída por uma série de pilares tipo “duques de Alba” construídos dentro de ensecadeiras e um pontão de pedra aparelhada e material de enchimento que se prolongam na duna concrecionada.
1.4.2 Ponte Fluvial dos Caminhos-de-ferro do Sul
Antes da Construção da Estação Ferroviária e Fluvial, vulgo Estação do Barreiro, na Avenida de Sapadores, o cais de atracagem dos vapores da CP, o terceiro a existir nesta zona, foi no alinhamento da primeira estação, actuais Oficinas Gerais da EMEF.
O vestígio das estacas da primeira ponte construída inteiramente em madeira ainda é visível na baixa-mar á direita das estruturas em pedra. Lº Acórdãos CMB 1854/1861
FUNDiÇÃO 25
Moinhos a sul do tejo - Barreiro Uma vez mais devido ao desassoreamento provocado pelos catamarans emergiram os vestígios desta longa ponte, cons- Algumas das estruturas, lembrando palafitas, que se obsertituída por núcleos de 5 estacas cada, em que a principal vam frente aos moinhos na areia e no lodo, fazem parte da apresenta um diâmetro médio de 40cm. área funcional deste estaleiro, serviram outrora de estruturas de retenção de areia para suporte a construções.
1.5 O Estaleiro de Construção Naval A zona de Alburrica, junto dos moinhos albergou um estaleiro de construção naval de média dimensão do mestre Francisco Ferreira que laborou até meados do século passado.
A estrutura em betão que se situa no topo da duna atrás do Moinho Nascente, corresponde à plataforma de apoio da cábrea (assinalada a vermelho na planta do estaleiro), anteriormente a meio caminho entre esta plataforma e o referido moinho também havia ou haverá sob a areia, o pilar de apoio do guincho que servia a carreira de construção ilustrada pela imagem acima.
1.6 Conclusão
Pelo acima exposto pensamos não restar dúvida de que as pontas de Alburrica e do Mexilhoeiro, constituem um valioso património cultural e natural que urge proteger. Em vias de classificação, toda a zona emblemática, será integrada num projecto cujo objectivo visa não só devolver as áreas ribeirinhas aos munícipes barreirenses, mas também sensibilizá-los para a preservação ambiental e para a perpetuar a memória colectiva. Juntam-se esforços e sensibilidades para que
o futuro seja melhor sem apagar o passado.
(*)Técnico da Câmara Municipal do Barreiro Dr. António Camarão
FUNDiÇÃO 26
Moinhos a sul do tejo - Barreiro
Os antigos moinhos de maré da Verderena Câmara Municipal do Barreiro António Nunes Camarão (*) Ficou a dever-se a Gaspar Correia a edificação do primeiro moinho de maré na Verderena, o qual em 1484 se encontrava ainda dentro dos limites do alfoz de Alhos Vedros, e que em 1521 passou a constituir referência para a demarcação da fronteira entre o concelho de Alhos Vedros e o do Barreiro, mas como parte integrante deste último, facto que se pode atestar pela Carta em que o Barreiro passa a Villa Nova do Barreiro redigida nesse ano. “ffazemos o dito llogar do Barreiro villa e queremos que daquy em diamte se chame villa nova do Barreiro e a tiramos e desmembramos do termo da dita villa dalhos vedros e lhe damos por termo asy como vay o dito camjnho e das ditas casas asy como vay o camjnho entestar na marynha de Joham Roiz ficamdo a dita marynha e os mojnhos de Gaspar Correa dentro do termo da dita villa nova do Barreiro” As referências documentais para a história deste moinho são intermitentes na cronologia até ao século XIX que se apresenta como o mais documentado. É a partir desta altura que se pode aferir a existência não de um, mas de dois moinhos, um de cinco moendas e outro de seis, e com o avançar dos tempos deixavam de constituir o termo da vila e passavam a estar envoltos na paisagem rural que se ia desenvolvendo na medida em que se ia emparcelando em quintas e casais.
Pormenor da Carta Topográfica Militar de 1904
Talvez pelos factos acima referidos, em1921 a Empresa de Moagem Bomfim, Lda., requer licença para uma unidade de engorda de gado suíno com capacidade para fazer farinha para a sua autossuficiência e venda de excedente, os dois moinhos totalizando nove engenhos fazem então parte da mesma unidade moageira industrial, a área amuralhada em torno dos moinhos constituía um ancoradouro vantajoso para a entrada de matérias-primas e expedição dos produtos desta unidade industrial. Pela análise da planta geral da fábrica, constata-se já ter havido superfícies intervencionadas e regularizadas.
Planta Geral da Fábrica da Sociedade Industrial do Bonfim Lda. Pormenor da Carta Topográfica da Península de Setúbal Com aproveitamento dos dois moinhos marcados a amarelo. (1813 – 1816) onde é visível a localização dos moinhos existentes na Verderena, com as respectivas caldeiras.
No início do século XX os moinhos da Verderena constituíam uma propriedade apetecível rodeada pela Quinta dos Arcos a Sul, pelas Quintas do Convento e da Paiva a Este e pela Quinta Grande que se dividia dele por uma das principais vias de acesso ao Barreiro a partir da bifurcação da estrada de Palhais que descia suavemente desde a Quinta da Lomba. Por outro lado era, com as duas caldeiras de serviço, um plano central na frente ribeirinha do Coina entre as marinhas do Prego e as da Verderena. Junto aos moinhos da Verderena a Malhada para Gado Suíno
FUNDiÇÃO 27
Moinhos a sul do tejo - Barreiro pertencente à Empresa de Moagem Bomfim, Lda., que aproveitava nela parte das farinhas produzidas na instalação de moagem a vapor que funcionava no maior dos dois moinhos da Verderena, que havia sido ampliado para o efeito (edifício claro de três pisos).
Fragatas a carregar no cais da Verderena – Fonte: António Rubio
Em primeiro plano a Quinta Grande da Verderena que começava a ser progressivamente ocupada pela malha urbana, ao centro os Moinhos da Verderena, em segundo plano a Quinta dos Arcos, e ao fundo a Telha e a Parceria Geral de Pescarias.
No início dos anos 40 do século XX a deslocalização de algumas unidades da industria corticeira quer por imperativo do crescimento urbano ou pela simples necessidade da expansão empresarial, como foi o caso, levou ao interesse da firma Theodoro Rubio & Filhos Ltd. a interessar-se e a concretizar a posse da quase totalidade da área ocupada pela Empresa de Moagem Bomfim, Lda. transformando-a numa enorme unidade fabril corticeira que beneficiava não só do património já construído como dos cais para embarque da cortiça transformada para exportação.
O complexo dos moinhos da Verderena visto da Quinta dos Arcos
Os edifícios vêm posteriormente a ser demolidos em 1970 , tendo lugar o aterro da quase totalidade das caldeiras dos dois moinhos e das zonas contíguas a Norte que outrora haviam sido salinas e viveiros de peixe.
A malhada da suinicultura transformada em unidade corticei- A área original dos moinhos e caldeiras ocupadas ao tempo da Empresa de Moagem Bomfim, Lda sobreposta ao aterro dos ra Rubio – Fonte: António Rubio anos 70 do século XX
A pressão da carga urbana vai progressivamente tomando lugar no espaço dos antigos moinhos que outrora foram o ponto determinante para o limite do Concelho, constituindo per si e por esse mesmo facto um marco histórico edificado.
Em primeiro plano a Quinta Grande da Verderena que começava a ser progressivamente ocupada pela malha urbana, ao centro os Moinhos da Verderena, em segundo plano a Quinta dos Arcos, e ao fundo a Telha e a Parceria geral de Pescarias. – Fonte: António Rubio
FUNDiÇÃO 28
Moinhos a sul do tejo - Barreiro moinho de maré de 5 engenhos, na Verderena, ao moleiro António Ferreira Branco, morador no Barreiro. (ADS, Notarial Barreiro, II/9).
O avanço urbano na antiga Quinta Grande que se transforma por completo e dá lugar à Verderena
1706, Abril 1 — Contrato de arrendamento de um moinho de maré com cinco engenhos, sito na Verderena, pelo tempo de seis anos, cumpridos e acabados, entre a proprietária D. Isabel Coelho e António Ferreira Branco, rendeiro; o moinho é forro e isento, e paga taxa pela água da caldeira a Comenda do Barreiro da Ordem de Santiago. (ADS, Notarial Barreiro, 11/10). 1803, Marco, 14 — Escritura de empréstimo gratuito de dinheiro feita entre o Capitão João Pinheiro Borges a Francisco Ferreira, rendeiro do Moinho da Verderena, da quantia de 34$200 réis, para este reparar o varame da sua casa. (ADS, Notarial Barreiro, V/31). 1805, Julho, 12 — Belchior Raimundo de Cerqueira, Tesoureiro da Câmara do Barreiro, tinha em cofre 270$000 réis pela compra que fizeram Jacinto José Gonçalves e João Batista a Caetano José de Sousa, procurador de sua mãe, D. Maria Madalena Machado, de um moinho sito na Verderena. (CMB, Arquivo Municipal, Livro de Sisas).
Vestígios do antigo moinho pequeno da Verderena. Foto de António José de Almeida (1946-1992).
1815, Julho, 14 — Venda de metade de um moinho, suas pertenças, serventias e logradouros, por Jacinto José Gonçalves e sua mulher, D. Tereza Angélica, a João dos Santos da Costa, moleiro, por 1:200$000 réis; o barco do moinho valendo 200$000 réis. Confrontações: a Norte e Nascente com a caldeira do moinho de maré do Sargento-Mor Cardeira e estrada pública Verderena-Barreiro, Sul e Poente com a praia do Rio Coina. (ADS, Notarial Barreiro, VIII/40). 1827, Janeiro, 19 — Arrendamento por dois anos de um moinho de maré da Verderena, entre José Pedro da Costa, procurador do Desembargador Francisco Rodrigues Cardeira, a D. Matilde Rosa, viúva; esta apresentou como seu fiador, o sogro, Luís da Costa. (ADS, Notarial Barreiro, VI/50).
Vestígios da muralha da Caldeira que actualmente se encontra sob o Polis - Foto de Guilherme Ferreira – CMB
Referências documentais dos Moinhos da Verderena
1484, Junho, 27 — Carta de confirmação de sesmaria do esteiro das Verderenas, termo de Alhos Vedros, a Gaspar Correia, para fazer moendas. (ANTT, Chanc. D. João II, Lº. 22, fl. 30
1829, Julho, 15 — Arrendamento por dois anos do moinho da Verderena, com 6 engenhos correntes e moentes, entre o Desembargador Francisco Rodrigues Cardeira e D. Matilde Rosa, tendo esta apresentado como fiador, José Miguel Saraiva da Fonseca Morgado. ADS, Notarial Barreiro, VI/50). 1845, Julho, 15— O Desembargador Francisco Rodrigues Cardeira, por intermédio de um seu procurador, João António Comes, advogado no Barreiro, alugou o seu moinho de água salgada da Verderena, pelo tempo de dois anos, a Manuel dos Santos da Costa. (ADS, Notarial Barreiro, VIII/61).
1521, Julho, 18 — Carta de aforamento em vida de três pessoas de uma quinta que trazia Rodrigo de Vasconcelos, com duas ma1851, Outubro, 15 — Partilhas entre João dos Santos da Costa, rinhas, e uma delas parte ao Norte com caminho do Concelho José dos Santos da Costa, Maria Prazeres e Costa, Maria Gesque vai para a Verderena Grande e ao Poente com calçada dos trudes de Jesus Costa, por óbito de seu pai, João dos Santos da moinhos de Gaspar Correia e com pedaço de viveiro. (ANTT, OrCosta Sénior; entre os bens constava um moinho de água, da dem de Santiago, B 50-12). Verderena, caldeira e um barco grande do moinho. (ADS, Notarial Barreiro, X/60). 1534 — João Correia pagou a Ordem de Santiago a quantia de 60 alqueires de trigo, por um moinho que possuía no limite do 1851, Novembro, 8 — Empréstimo de 1:100$000 réis, em moetermo do Barreiro, e do qual não tinha carta. (ANTT, B 50-171, da metálica, feita por Filipe de Sousa Belfort, Bacharel em Leis, Visitação a Vila do Barreiro, 1534). a Luís dos Santos da Costa, negociante de cereais, e sua mulher, D. Maria Gertrudes de Jesus Costa, para ser aplicado nos cus1687, Janeiro, 20 — António Teixeira arrenda por 3 anos o seu tos das tornas da herança de seu sogro e tio, João dos Santos
FUNDiÇÃO 29
Moinhos a sul do tejo - Barreiro da Costa Sénior. Luís dos Santos da Costa hipotecou vinhas e casas de habitação, apresentando como fiador o seu primo e cunhado, João dos Santos da Costa, tendo este, hipotecado casas, vinhas e um moinho de vento na praia da Lezíria (Lavradio), conhecida como praia dos moinhos, confrontado a Norte com o no Tejo, Sul com a marinha de sal de Nicola Covacich, Nascente com moinho de vento de Francisco dos Santos Rompana e pelo Poente com moinho de vento de José Silvestre, além da sua casa de habitação e fábrica de pão e forno, na rua de São Francisco, no Barreiro. Este contrato firmou-se pelas tornas de um moinho de maré de seis engenhos, na Verderena. (ANTT, Notarial Lisboa, C. VI/268).
a Quinta dos Arcos e do Poente com moinho de José dos Santos Costa, sendo um prazo foreiro a Fazenda Nacional em 39$000 réis e tinha laudémio de quarentena. O custo do moinho foi de 4 contos e 900 mil réis, em metal sonante. O vendedor informou, na ocasião, ter adquirido uns sapais e monchões, confundidos com a caldeira do moinho vendido, denominados Marinha Velha, foreira a Irmandade do Santíssimo do Barreiro em $144 anuais com laudémio de vintena, que passavam a formar um só prédio. (ADS, Notarial Barreiro, XI/74).
1867, Dezembro, 23— Arrematação em hasta pública de um foro pertencente a Fazenda Nacional, por extinção da Casa do Infantado, pela quantia de 780$500. O foro tinha vencimento 1851, Novembro, 21— Ratificação da partilha amigável, entre em 31 de Dezembro, imposto num moinho de água e caldeira, os herdeiros João dos Santos da Costa Sénior, antigo possui- na Verderena cujo valor era de 39$000 réis.0 comprador foi dor de um moinho de maré de seis engenhos, sito na Verdere- Vicente Ferreira Nunes. (ANTT, Arq. Histórico do Ministério das na, avaliado em 4 contos de réis, uma marinha de sal contígua, Finanças, Lvº. 559). pelo lado Norte a caldeira desse moinho, por 1:348$000 réis. O herdeiro José dos Santos Costa recebeu metade do moinho (três 1887, Marco, 16 — Carlos Ernesto Augusto Ribeiro, casado, neengenhos) a Nascente da casa da recolha dos trigos, enquanto gociante e residente na capital, arrendou por 4 anos o moinho que a outra metade do moinho, porta de água e uma pequena movido a água salgada e uns terrenos anexos, na Verderena, casa que estava no mesmo prédio, coube a Luís dos Santos da freguesia de Santa Cruz da Vila do Barreiro, a Crispim José dos Costa. (ADS, Notarial Barreiro, X/60). Santos, casado, proprietário e morador no Barreiro. O moinho era constituído por casas, nove rodízios, caldeira, terreno, um 1851, Dezembro, 6— Os primos e cunhados José dos Santos Cos- poço e um tanque, confrontando a Norte, Sul e Nascente com ta e Luís dos Santos da Costa acordaram na serventia de um estrada pública e pelo Poente com o Rio Coina. Obrigações moinho de seis engenhos, na Verderena herdado do pai do pri- contratuais do senhorio: Arranjo das paredes, portas, janelas meiro e sogro do segundo, baseando esse contrato, na divisão e telhados do moinho, décima predial, impostos paroquiais e do moinho por um tapume com duas fechaduras desiguais, de municipais; o rendeiro devia pagar 144$000 réis, por trimestre, maneira que nenhuma delas possa ter entrada das chaves pelo adiantarnente, na casa do senhorio, custear as obras para o lado oposto; caso um deles necessite servir-se para a entrada e funcionamento do moinho, limpeza da caldeira e recolha, para condução de géneros ou utensílios próprios para o moinho po- seu proveito, do peixe que apanhar e receber e devolver no fiderá faze-lo, utilizando a porta que demarcava a propriedade. nal do contrato, os móveis e alfaias constantes no inventário do (ADS, Notarial Barreiro, VIII /62). moinho de maré, e o gozo dos monchöes da caldeira e terreno de semeadura a Nascente do moinho. Como o rendeiro não iria 1853, Fevereiro, 1 — Venda pelo Desembargador Francisco trabalhar com todos os nove rodízios e respectivas mós que o Rodrigues Cardeira, Comendador da Ordem de Cristo e Juiz da moinho possuía, ficou obrigado a desembaraçar uma mó que o Relação dos Açores, e sua esposa, D. Tereza de Jesus Vila Vi- senhorio podia exigir. (ADS, Notarial Barreiro, XVI/132). çosa, a Manuel dos Santos Costa, proprietário e residente no Barreiro, de um moinho de maré de seis engenhos, confinante 1901, Junho, 15 — Venda de um moinho de água salgada e suas a Norte com a caldeira do mesmo moinho e Largo da Maceda, dependências, na Verderena, por José dos Santos Costa, viúvo, pelo Sul com o Rio Coina, a Nascente com a Quinta dos Arcos morador na Quinta Pequena, do Barreiro, a Isidro Freire, casado, e pelo Poente com o moinho de maré dos Herd.os de João dos morador na rua do Jardim do Tabaco, nº 74, 1º andar, na capital, Santos Costa, pela quantia de 2:900$000 réis; a propriedade era pela quantia de 1.240$000 réis. O moinho confrontava do Norte foreira a Fazenda Nacional por 39$000 réis, com laudémio de com João Maria de Abreu Moreira, Sul e Poente com o Rio de quarentena. (ANTT, Notarial Lisboa, C. IX/745). Coina e a Nascente com serventia e caldeira do moinho de Isidro Freire, sucessor dos Herdeiros de Vicente Ferreira Nunes. A água 1856, Janeiro, 30 —Manuel dos Santos da Costa viúvo, maior da caldeira servia também a marinha de sal de Abreu Moreira. de 50 anos, disse a José dos Santos Costa, major de 25 anos, (ADS, Notarial Barreiro, XVI/155). casado, ter comprado o moinho da Verderena composto de seis engenhos, ao Desembargador Francisco Rodrigues Cardeira e 1921, Fevereiro, 21 — A Empresa de Moagem Bomfim, Lda., resua mulher, D. Tereza de Jesus Vila Viçosa. (ADS, Notarial Bar- quereu licença para instalar nos seus terrenos denominado do reiro, X/65). Alto do Moinho e uma malhada para engorda de gado suíno, isolado dos edifícios da Verderena. A Empresa recebeu o Alva1862, Fevereiro, 7— Venda de um moinho de água salgada com rá da administração da C.M.B., tendo funcionado na Verderena seis engenhos, caldeira, logradouros e serventias, na Verderena, durante uns anos. (CMB, Arquivo Municipal, Livro de Alvarás). feita por Manuel dos Santos da Costa a Vicente Ferreira Nunes, negociante e morador em Lisboa. Este imóvel estava em sua (*)Técnico da Câmara Municipal do Barreiro posse desde 5 de Fevereiro de 1853, por compra feita ao Desem- Dr. António Camarão bargador Francisco Rodrigues Cardeira e sua mulher, D. Tereza de Jesus Vila Viçosa. O moinho confinava a Norte com a sua caldeira e Largo da Maceda, Sul com o Rio Coina, Nascente com
Moinhos a sul do tejo - Moita
O moinho de maré de Alhos Vedros Maria Clara Santos (*)
1. Enquadramento Histórico Os moinhos de maré constituem importantes construções que remontam à Idade Média, instalaram-se nas margens dos principais rios portugueses para aproveitarem a força das marés, considerada, durante vários séculos, mais precisamente até à invenção da máquina a vapor, a principal fonte de energia. Arquitectonicamente caracterizam-se pelas suas sólidas arcadas, construídas em pedra, voltadas para o rio, elemento construtivo que lhe conferiu uma grande robustez para poder resistir à pressão das marés e com a função de acolher os rodízios 1 , no interior dos seus arcos. Estas construções distinguem-se ainda pela sua estrutura mecânica e utilização de um sofisticado equipamento de moagem que pressupõe todo um conjunto de conhecimentos técnicos 2 , determinantes no sucesso destas estruturas dedicadas à moagem de cereais. Além do pleno domínio das tecnologias, as condições naturais oferecidas pelos estuários dos rios portugueses foram factores decisivos para a sua edificação, nomeadamente a
existência de esteiros, com zonas sujeitas ao fluxo das marés, inundadas na fase ascendente e passíveis de ficarem secas, na vazante. Estas características geomorfológicas propiciaram o aproveitamento da água das marés, através da construção de uma caldeira, onde a água ficava retida, para ser utilizada como força motriz, na baixa-mar. Frente a esta albufeira edificava-se o moinho, dotado de uma comporta que permitia a entrada da água na referida caldeira, durante a maré cheia. Tais condições geográficas foram reconhecidas, desde muito cedo, pelas populações locais que começaram a utilizar os recursos naturais, com a construção de caldeiras e moinhos, de forma a rentabilizar a força motriz que era disponibilizada pelo movimento contínuo das marés. Embora a existência de tais estruturas se tenha generalizado por todo o país, foi sobretudo na orla fluvial da margem sul do Estuário do rio Tejo, amplamente recortada por esteiros e com as condições naturais propícias ao seu aproveitamento, que se edificou o mais importante conjunto de moinhos de maré. As
* Técnica Superior da Câmara Municipal da Moita 1 Os rodízios são uma roda horizontal, com cerca de um metro de diâmetro, constituída por peças de madeira, dispostas radialmente, designadas de penas. Este é o mecanismo motor dos moinhos de maré, funcionam com a energia da água da maré que cai obliquamente sobre as suas penas, fazendo-os girar, sendo esse movimento depois transmitido às mós. 2 A construção destas estruturas envolve conhecimentos complexos de engenharia civil e hidráulica, relacionados com as correntes de água das marés, as suas amplitudes e durações, a sua velocidade, bem como do terreno onde era implantado o edifício sempre associado a uma caldeira para retenção da água. 3 Os Fornos Reais de Vale de Zebro foram um importante complexo industrial, vocacionado para a produção de biscoito em larga escala, destinado a garantir o abastecimento das armadas e das fortalezas de além-mar. Este complexo era constituído por um vasto conjunto de infra estruturas, tais como celeiro, armazéns de farinha e de biscoito, cais, telheiros das lenhas, abegoaria, moinho de maré com oito pares de mós, 27 fornos, oficinas e casas para acolher os empregados. 4 O antigo concelho de Alhos Vedros abrangia um vasto território que corresponde actualmente aos concelhos de Barreiro e Moita, exceptuando Coina. Em 1521,
suas origens remontam ao século XIII, mas foi a partir das centúrias de quatrocentos e quinhentos que a sua construção se intensificou. Um dos factores responsáveis por esta dinamização foi o estabelecimento real dos Fornos de Vale de Zebro 3 , implantado na margem direita do rio Coina, na segunda metade do século XV, no antigo termo de Alhos Vedros 4 . A necessidade constante de farinhas, imposta por este empreendimento da coroa, impulsionou o aparecimento desta importante indústria moageira e vários moinhos de maré foram sendo edificados ao longo de toda a faixa esquerda do estuário do Tejo, de tal modo que o autor quinhentista, Gaspar Frutuoso, chegou a comentar a actividade económica desta área, nos seguintes termos: «(…) e logo a afamada vila de Almada, da qual até Aldeia Galega, que atrás fica, há seis léguas, em que haverá perto de sessenta moendas que moem de maré, (…).» 5 No léxico da época, o termo moenda designava o par de mós 6 , isto significa que havia o número de sessenta casais de mós, distribuídas por quinze moinhos, se tivermos em conta uma média de quatro mós por cada moinho. Isto é suficientemente revelador da importância da indústria moageira que se instalou na margem esquerda do Tejo, entre Almada e Aldeia Galega. A sua capacidade produtiva também seria impressionante se admitirmos uma produção entre os 140 e os 160 quilos de farinha por cada mó 7 , o que seria equivalente a uma produção total, entre os 8.400 e 9.600 quilos de farinha, em cada vazante. Estes valores são bem elucidativos da alta rentabilidade destes moinhos, verdadeiras máquinas de produzir farinha, conseguiam concentrar uma produção que superava qualquer outro sistema de moagem da época (atafonas 8 e azenhas de rio), devido também à multiplicidade das moendas. Embora laborassem só nos períodos descendentes das marés, entre três a quatro horas, po-
o Barreiro ganhou a sua autonomia municipal, mas continuou a fazer parte do termo de Alhos Vedros, as povoações de Lavradio, Verderena, Telha e Palhais. O Livro do Tombo da vila de Alhos Vedros, de 1614, esclarece-nos a este respeito: «No termo desta villa d’Alhos Vedros ha as povoações seguintes: Sarilhos o pequeno e o lugar da mouta e quinta de Martim Afonso, o Lavradio, a Telha, as Verderenas e Palhais.», Fl. 314 5 FRUTUOSO, Gaspar (1522-1591), Saudades da Terra, Livro IV, Ponta Delgada, Instituto Cultural de Ponta Delgada, 1998, p.138. 6 As mós funcionam sempre aos pares, designadas por casal de mós. A mó de baixo, a jacente, é fixa e a mó de cima, a andadeira, é que se move, mas na sua rotação não deve encostar à jacente, o moleiro tem que saber regular o intervalo entre as duas mós, designado o aperto da mó. 7 Estes elementos foram deduzidos a partir de uma informação, recolhida em 1990, do senhor Artur Moreira, filho do último moleiro que trabalhou no Moinho de Maré do Cais de Alhos Vedros. Segundo Artur Moreira, “Numa maré, uma mó podia fazer dois sacos grandes de farinha, de 70 a 80 quilos. Se fosse duas mós eram quatro sacos.” 8 As atafonas eram engenhos de moagem, movidos por animais.
FUNDiÇÃO 31
Moinhos a sul do tejo - Moita diam em determinadas alturas, laborar duas Informações Paroquiais de 1758 testemunhavezes por dia (de manhã e à tarde) 9 . O seu -nos uma concentração de sete moinhos e funcionamento era regular e garantia uma fornece-nos a sua localização e o número produção diária, constante de farinhas que de moendas. Em relação à Moita expõe-nos permitia não só assegurar o abastecimento o assunto da seguinte forma: « (…) tem esta das populações locais, como também os dois terra quatro moinhos, um chamado Esteiro grandes centros consumidores: os Fornos Furado com três aferidos 12 , outro o Moinho Reais de Vale de Zebro no fabrico do biscoito Novo com oito aferidos no sitio do Rosário 13 10 e a cidade de Lisboa, cujas necessidades de , outro chamado da Quinta da Freira com três farinha haviam aumentado com o crescente aferidos, outro chamado o Sítio do Alimo 14 consumo de pão, em resultado do crescimen- com três aferidos, no qual finda o dito rio.» 15 to da sua população 11 . Houve, com efeito, Para Alhos Vedros o autor faz uma descrição neste espaço, da margem esquerda do estuá- semelhante: « (…) que o Rio que há é o dito rio do Tejo, todo um conjunto de factores fa- braço do Tejo, em que há dois moinhos, um voráveis, económicos, naturais e geográficos de cinco pedras ou engenhos 16 , outro que se que determinaram a implementação desta demoliu e já tem principio de reedificação 17 . rede moageira, cuja importância económica Em noutro braço ou Rio da parte do nascen-
duas pertencentes ao termo de Alhos Vedros e posteriormente termo da Moita (a partir de 1691) e as restantes duas ao termo de Aldeia Galega. Na verdade, a concentração de um conjunto de oito moinhos, neste espaço geográfico que corresponde ao actual concelho da Moita, dá para compreender a importância destes engenhos, quer do ponto de vista patrimonial, quer como actividade económica, associada à moagem de cereais. Presentemente, apenas dois desses edifícios se encontram em bom estado de conservação: o Moinho do Cais de Alhos Vedros, propriedade do Município da Moita, e o Moinho Novo, situado também em Alhos Vedros e propriedade de um particular. Os restantes estão em ruínas 21 ou desapareceram 22 completamente.
2.1. O Moinho de Maré de Alhos Vedros: Das Origens à Actualidade
só pode ser entendida no quadro das novas relações da empresa marítima e expansão portuguesa de quatrocentos.
te que divide o termo desta vila do da Moita está outro moinho 18 do mesmo lote e melhor, (…)» 19
2. Os Moinhos de Maré no Concelho da Moita
O autor das Informações Paroquiais não mencionou nesta descrição o moinho de maré de Ambos os Termos, localizado no esteiro de Sarilhos Pequenos e documentado nas escrituras de arrendamento 20 , com quatro pedras,
Os moinhos de maré que foram construídos no concelho da Moita fazem parte integrante deste complexo industrial moageiro. As
A 13 de Fevereiro de 1435, o Infante D. João 23 , Mestre da Ordem de Santiago, concedeu por carta de sesmaria a posse de um chão e sapal, no lugar de Alhos Vedros, a Pero Vicente 24 e Fernão de Estevens 25 , para aí construírem uma azenha 26 . Esta doação enquadra-se numa prática que era habitual ocorrer no seio da Ordem, com vista a dar utilidade aos terrenos que se encontravam maninhos e desaproveitados e decorrente dessa situação aumentar os proventos económicos. Neste caso concreto, importa salientar que foram os próprios Pero Vicente e Fernão de Estevens que reclamaram junto do sesmeiro27 do Ribatejo, Pero Vasques, a doação dos referidos terrenos, com o intuito de edificarem a referida azenha, como é visível no excerto do documento que passamos a transcrever: «(…) perante o dito sesmeiro parecerão Fernão do Estevens, E Pero Vicente, moradores em o dito logo, E pedirão ao dito sesmeiro que
9 18 Os moinhos, muitas das vezes, para trabalharem em dois períodos no dia, a Refere-se ao Moinho da Charroqueira. fim de potenciar a sua produção, tinham que laborar à noite. Segundo o teste- 19 Idem, ob. cit., p. 28 20 munho de Artur Moreira: “Havia alturas que o moinho começava a trabalhar de Arquivo Distrital de Setúbal, Livro Nº.6/19, Tabelião Manuel Cordeiro Zagalo, dia e havia outras que começava de noite.” Fl. 179 e seg. 10 O biscoito era uma espécie de bolacha, de forma achatada, cozido no forno, 21 Nos Moinho da Charroqueira e da Quinta da Freira ainda são visíveis as suas umas duas vezes, de modo a retirar-lhe toda a humidade, para assim se conser- paredes de pedra e alvenaria, bem como o seu lajedo. 22 var durante muito tempo. Moinho do Alimo, Moinho Novo do Rosário, Moinho de Ambos os Termos e o 11 Em 1527, Lisboa tinha uma população de 60.000 habitantes; em 1551 tinha Moinho do Esteiro Furado. 100.000 moradores. COELHO, António Borges, Ruas e Gentes na Lisboa Qui- 23 Este Infante D. João era filho do rei D: João I e da rainha D. Filipa de Lencastre. nhentista, Lisboa, Editorial Caminho, 2006, p.25 Por uma bula pontifícia, de 8 de Outubro de 1418, foi nomeado Governador da 12 Os aferidos são os canais que conduzem a água da caldeira ao rodízio. Cada Ordem de Santiago. 24 aferido corresponde a um rodízio e a um par de mós. Pero Vicente, o Velho, viúvo da sua primeira esposa, Constança Vaz, casou13 Este Moinho situava-se frente ao estaleiro naval do Mestre José Lopes, no -se, pela segunda vez, com Catarina Lopes Bulhoa, dama de honor da Infanta Gaio. Na época quando se escreveu as Informações Paroquiais ainda não se Dona Leonor, irmã de D. Afonso V. Era pai de Fernão do Casal e por morte deste, atribuía àquela localidade a designação de Gaio, mas sim Rosário, termo que fundou a Capela de S. Sebastião, integrada na Igreja Matriz de S. Lourenço de abrangia todo aquele espaço geográfico. Actualmente não resta quaisquer ves- Alhos Vedros. 25 tígios deste moinho. Desconhecemos a identidade de Fernão de Estevens que só aparece mencio14 O moinho do Alimo estava situado “no Caes do Tojo na villa da Moutta de- nado nesta carta de sesmaria, juntamente com Pero Vicente. 26 nominado do Alimo que se compõe de tres pedras de moer pão (…).” Livro Na documentação medieval utiliza-se o termo azenha para designar os moiNº.12/57, Tabelião Manuel Feliciano de Gambôa, Fls.89-91 nhos de maré. 15 Alves, Padre Carlos F. Póvoa, Subsídios para a História de Alhos Vedros. Infor- 27 Tratava-se do sesmeiro da Ordem de Santiago, cuja nomeação pertencia tammações Paroquiais de Alhos Vedros e Moita, Edição Igreja paroquial de Alhos bém à Ordem, o senhorio de todas as terras da Comarca de Ribatejo, território Vedros, 1992, p. 84 compreendido entre o rio Coina e a Ribeira das Enguias. O sesmeiro tinha a 16 Moinho do Cais de Alhos Vedros. função de distribuir as terras que não estavam aproveitadas, em regime de ses17 Moinho Novo marias.
FUNDiÇÃO 32
Moinhos a sul do tejo - Moita lhe desse de sesmaria hum çapal esta assima da ponte, E lugar, E poder que elles podessẽ fazer em o rio hῦa acenha por quanto assi a dita terra E çapal estaua desaproueitada E a Ordem de Sãotiago não auia della proueito nenhῦ, que elles querião ali fazer a dita acenha (…)visto o dito çapal, E Rio em como era terra maninha, E vazia, sem della a dita Ordem auer proueito nenhum, visto como os ditos Fernão Estevens, E Pero Vicente dizem que a querião aproueitar, E fazer a dita acenha E como era grande proueito da dita Ordem lhe deu o dito çapal, E lugar, E poder, que elles pudessem fazer, E armar a dita acenha em o dito Rio, E lhe deu, E mandou que elles podessem tomar do dito çapal terra, E Rio por onde se elles podessem a proueitar, E ouuessem logradouros, entradas, E saídas pera a dita acenha, E pertenças della, (…) E
outro se lhe deu hum chão que hi esta fora do dito çapal iunto com o porto que tem hῦas figueiras assi como parte com o caminho do conselho (…) E lhe era necessario pera fazer a dita acenha (…).» 28 A atribuição do sapal que ficava junto à ponte, bem como do chão, junto a um porto, para a construção dos logradouros, entradas e saídas de serventia ao moinho, são duas referências geográficas que nos remetem logo para a actual localização do moinho de maré 29 , não nos deixando quaisquer dúvidas de que se referia à mesma estrutura de moagem. Todavia, a concessão do sapal e do chão, foi feita na condição de pagarem à Ordem o dízimo de todo o pão que a dita azenha viesse a produzir. Outra condição de posse era fazer o seu aproveitamento, de acordo com os ob-
jectivos da outorga e nesse sentido estabeleceu-se o prazo de oito anos, sob pena de pagarem mil reis brancos ao Senhor Infante D. João, Mestre da Ordem de Santiago. Não deixa de ser curioso, o facto de a Ordem ter determinado um período de oito anos para a construção do moinho de maré, o que demonstra já ter uma verdadeira percepção da complexidade da obra e daí a dilatação do tempo concedido. No nosso entender é suficientemente revelador de que a edificação de um moinho, sempre associado às estruturas que lhe são inerentes (caldeira e porta de água), comportava um grande investimento, em termos de mão-de-obra e materiais, um empreendimento que face à época envolvia custos dispendiosos de capital e de tempo. Tanto assim é, se tivermos em conta que para se fazer o aproveitamento de uma praia de
sapal em uma marinha, era apenas concedido um ano. Tendo em consideração este prazo de oito anos, a construção do moinho ter-se-á realizado entre 1435 e 1443, segundo quartel do século XV, e, neste sentido podemos aventar a hipótese de ter sido um dos primeiros a ser erguido nesta faixa ribeirinha, compreendida entre a Telha e Sarilhos Pequenos, no território que estava dentro dos limites da administração de Alhos Vedros. Num segundo documento, uma carta de sesmaria datada de 15 de Outubro de 1484, na qual se dá a posse de um sapal para construir uma marinha, temos já a confirmação da existência do moinho, tendo-se assim dado cumprimento às cláusulas exaradas na pri-
“Treslado da Carta de Sesmaria” in Practicarum Observationum Sive Decisionum Supremi Senatus Regni Lusitaniae. Pars prima [-secunda]..., de Jorge de Cabedo, Antuérpia, 1620, pp.92-93 29 Nas obras de reabilitação do edifício que decorreram entre Abril de 2006 e Abril de 2007, foi encontrado no espaço de entrada do moinho, na fase da picagem do chão, uma cavidade entulhada de restos de pedra de mós e de cerâmica, correspondente a um antigo pejadouro e que se encontrava direccionada numa posição diferente aos pejadouros existentes. Este registo arqueológico levou-nos logo a crer que faria parte de uma construção primitiva do moinho, anterior à actual, agora confirmada pela documentação quatrocentista. 30 Aqui neste contexto a palavra “acenhas” significa casais de mós, o mesmo que moendas, como aparece no fim da citação 31 “Treslado doutra Carta de Sesmaria” in Practicarum Observationum Sive Deci28
meira carta de sesmaria. Contudo, não nos esclarece mais nada sobre esta estrutura (número de moendas, a forma de exploração, designação do moinho), apenas salienta a preocupação de Pero Vicente em atribuir ao documento uma legitimidade futura, no sentido de criar regras, de forma a garantir uma eficiente utilização da água da caldeira, na marinha, de maneira a não pôr em causa o funcionamento das moendas, tal como é exposto no seguinte trecho da referida carta: «dizendo mais o dito Pero Vicente ao dito Sesmeiro que depois de sua morte, E de sua molher as ditas acenhas 30, E marinha per partilhas ou heranças por hi não auer litigio sobre as agoas que elle lhe requeria a elle dito Almoxarife, E Sesmeiro que lhe mandasse por em dita carta, que em quanto a agoa entrasse pelas portas das ditas acenhas, E o mar enchesse podesse tomar agoa pera a dita marinha e tanto que se as ditas portas cerrassem não podessem tomar mais agoa nenhῦa da dita Caldeira ate, a outra mare E quando a dita marinha não fizer sal, que o dito uiueiro tenha duas bombas pera a dita Caldeira pera aiuda das ditas moẽdas, (…).» 31 Esta carta de sesmaria permite constatar dois aspectos, por um lado, o empenho de Pero Vicente em rentabilizar os recursos existentes, a caldeira do moinho, na implementação de uma marinha para produção de sal e por outro, minimizar o investimento da construção da marinha, custo que seria bem diferente se tivesse que erguer as infra-estruturas que lhe eram inerentes. A associação de duas actividades económicas, tendo como recurso comum a água da caldeira, mereceu o cuidado de estabelecer princípios de funcionamento, ou seja, a marinha tinha que funcionar em articulação com o moinho, de forma a não prejudicar a moagem. Passados cento e quarenta e nove anos, a 12 de Setembro de 163332 , voltamos a ter notícia deste moinho, com o primeiro contrato de arrendamento conhecido, celebrado por tês anos, entre o proprietário, Tristão de Mendonça Furtado33 e o moleiro, Domingos João. Este documento fornece-nos informes precisos sobre a localização, o número de cinco casais de mós e o pagamento anual da conhecença34 à Ordem de Santiago, no valor de quarenta alqueires de trigo, tal como é evidenciado neste pequeno excerto: «… está de posse mança e pacifiqua he hum muinho que esta nesta villa que tem sinco engenhos
sionum Supremi Senatus Regni Lusitaniae. Pars prima [-secunda]..., de Jorge de Cabedo, Antuérpia, 1620, p.94 32 ADS, “Arrendamento que fez Tristam de Mendonça Furtado de hum muinho a Domingos Joam”, de 12 de Setembro de 1633 in Livro Nº.4/12, Tabelião João Cordeiro Zagalo, Fls.213-215 33 Tristão de Mendonça Furtado, fidalgo da Casa de Sua Majestade e Comendador da Ordem de Cristo, era casado com Dona Helena Manoel, fez parte do grupo de fidalgos que planearam e executaram a revolução de 1º. de Dezembro de 1640, sendo designado, pelo rei D. João IV, em 1641, embaixador na Holanda, com vista a reatar as relações amigáveis e diplomáticas, entre os dois países. 34 Conhecença trata-se de um imposto que era cobrado pelo direito de se possuir um moinho.
FUNDiÇÃO 33
Moinhos a sul do tejo - Moita tres alveiras 35 e dous castelhanos36 todos moentes correntes que esta leguado as suas casas com quem parte da banda do nascente o qual muinho aqui confrontado e declarado pagua cada hum anno corenta alqueires de trigo amafil 37 a ordem de Santiaguo na Comenda desta villa …». 38 A propriedade do moinho é, no entanto, um ponto a ter aqui em reflexão, já que transita para a posse da família “Mendonça Furtado”. Esta transferência de propriedade foi feita através da descendência de Afonso Lopes Bulhão39 , irmão de Catarina Lopes Bulhoa, segunda esposa de Pero Vicente que ao falecer não deixou descendentes. Outro aspecto a reter desta escritura de arrendamento é a relação dos equipamentos e ferramentas pertencentes ao moinho, cujas
designações são hoje ainda utilizadas. Assim enquanto o proprietário tinha que fornecer ao moleiro toda a madeira necessária «(…) pera rodisios e pera todo o serviço do muinho pejadouros e tabuado pera elles com seus reiros pera debaixo das pedras e porta da agoa nova quando for necessaria e lha dara veyos cabados e segurelhas entusadas e dara consertos e dados e lavadoura de ferro sendo necessarias novas ou calcadas e os rodisios que elle arrendador fiser seram avaleados por dous oficiais (…)» O moleiro tinha que ter em seu poder «… duas picadeiras 40
hum piquão 41 e hum alava de ferro 42 e os consertos das picadeiras e picam sera sempre per conta delle muleiro (…)». 43
Na escritura foi também estipulado o valor da renda anual que o moleiro tinha que pagar ao senhorio, bem como a forma como decorria esse pagamento. Assim, a quantia total de quarenta e cinco mil reis “em dinheiro de contado”, era pago em quatro partes, em cada três meses, no valor de onze mil e duzentos e cinquenta reis, iniciando-se a contagem do tempo a partir do primeiro de Agosto do ano de 1633 46 . Uma ilação que podemos retirar é que o proprietário do moinho recebia no ano, a renda em quatro prestações, de igual montante, rendimento que contribuiria para algum desafogo económico das suas finanças.
A posse das ferramentas era essencial para o exercício da actividade de moleiro, sendo uma das suas principais tarefas, fazer a picagem das mós com regularidade, de forma a manter a sua superfície, sobretudo nas zonas de contacto entre as duas pedras, a aspereza necessária para esmagar os grãos de cereal. Daí a preocupação em deixar registadas as medidas das mós na escritura, para no final do arrendamento, o moleiro pagar ao senhorio, os palmos de pedra que tinham sido gastos, durante os três anos de utilização: « (…) e que todos os dittos sinquo Engenhos com as pedras delles de presente a medida seguinte A segunda escritura de arrendamento coos tres engenhos Alveiras tem medidos seis nhecida, celebrada a 12 de Julho de 1666 47 palmos e meyo e os dous castelhanos sete , dá-nos conhecimento de que o Moinho de Alhos Vedros era designado de “Asenha” e era arrendado juntamente com outro moinho, denominado “Novo”. É com esta designação que passa a constar na documentação, o que nos leva a pensar que está relacionado com a toponímia medieval de “acenha”, usada nas cartas de sesmaria, anteriormente aludidas.
Nos arrendamentos subsequentes e até ao século XIX 48 , o moinho de maré esteve sempre na posse da família “Mendonça Furtado”, fazendo-se os contratos dentro dos trâmites normais deste tipo de documentos, todos muito semelhantes na sua estrutura. Surgem, no entanto, em duas escrituras, registos importantes sobre o número de engenhos. A primeira, referente ao ano de 168049 , em que nos dá a notícia de que o moinho tinha apenas quatro engenhos a funcionar, palmos e tudo o que se gastou destas medi- o que nos leva a crer que o quinto engenho, das paguara elle rendeiro a elle senhorio o mencionado na escritura de 1633, terá deique he uso e costume ao tempo que se sair do xado de operar, muito provavelmente, por muinho (…).» 44 motivos de assoreamento da seteira, o canal que liga a caldeira ao rodízio. A segunda Efectivamente, a obtenção de uma farinha de escritura, respeitante ao ano de 1800, já só qualidade dependia deste trabalho de saber faz alusão a três casais de mós, indicador de picar as mós, de tal forma relevante que foi que o moinho de maré estava a perder a sua alvo de postura municipal, por parte da Câ- importância económica e já não se enquadramara de Alhos Vedros, no ano de 1627, a fim va no contexto de necessidades do mercado de regulamentar a actividade: «(…) odo o mu- regional de procura de farinha que, caracterileiro que deitar pedra a moer sem ser picada zou os séculos XV e XVI. Estes elementos são cada mare pague de coima dous mil reis e da também importantes para a construção da
35 Alveiras são as pedras das mós que moem o cereal de trigo, eram feitas de pedra calcária. 36 Castelhanas são as pedras das mós que moem os cereais menos nobres, o centeio, o milho-miúdo, entre outros, eram mós de granito. 37 Trata-se de uma variedade de trigo. 38 “Arrendamento que fez Tristam de Mendonça Furtado de hum muinho a Domingos Joam”, de 12 de Setembro de 1633, Fl. 213v 39 Afonso Lopes Bulhão casou-se com Isabel Gramacha, de quem teve uma filha, Joana de Bulhão. Esta veio a casar com Lopo de Albuquerque, o Bode e desse matrimónio nasceu uma filha, Maria de Albuquerque que se casou com Tristão de Mendonça. O filho destes, Pedro Mendonça, instituiu o Morgado da Casa da Cova e casou-se com Maria Anna de Mendonça, pais de Tristão Mendonça Furtado, o proprietário do moinho de maré, referido na escritura de arrendamento de 1633. 40 A picadeira era utilizada na picagem das mós de trigo, as três alveiras, referidas logo no início da escritura. 41 O picão era utilizado na picagem das mós de milho, os dois pares de castelhanos.
FUNDiÇÃO 34
cadeya (…).» 45
42 A alava de ferro seria a peça que o moleiro utilizava para levantar e virar as mós andadeiras, para fazer o seu trabalho de picagem. 43 “Arrendamento que fez Tristam de Mendonça Furtado de hum muinho a Domingos Joam”, de 12 de Setembro de 1633, Fls. 213v e 214 44 Ibidem, Fl. 214 45 Câmara Municipal da Moita, Livro de Actas da Câmara de Alhos Vedros 16251635, Fl. 59v 46 “Arrendamento que fez Tristam de Mendonça Furtado de hum muinho a Domingos Joam”, de 12 de Setembro de 1633, Fl. 213v 47 Este arrendamento foi realizado entre o moleiro Felipe Brandão e Dona Helena Manoel, viúva e tutora do seu neto órfão, Tristão de Mendonça Furtado. Livro Nº.7/23 (1665-1672), Tabelião Manuel Cordeiro Zagallo e Diogo da Cunha, Fls. 21v, 22 48 Referentes aos anos 1670, 1680, 1686, 1692, 1697, 1704, 1710, 1714, 1727, 1748, 1756, 1758, 1759, 1762, 1800 e 1808. 49 Livro Nº.7/25 (1680-1681), Tabelião António de Távora e João de Gamboa, Fls.33v-35
Moinhos a sul do tejo - Moita identidade histórica daquele edifício e são um testemunho de que o moinho de maré teve um processo evolutivo, passando por diferentes fases de trabalho, as quais se iniciaram com cinco engenhos, sucedendo quatro e numa fase mais tardia, apenas três engenhos, reflexo de uma dimensão temporal que é inerente ao devir histórico do próprio moinho. Aliás, sabemos pela escritura de arrendamento, datada de 9 de Agosto de 1808 e rectificada um mês depois por outra, de 16 Setembro do mesmo ano, que o edifício padecia de alguma ruína e tinha necessidade de obras, «… cujas obras comvem a saber a serem concertos de muro50 , paredes, e telhados do mesmo moinho e tudo o mais que he nescesario para a conservação do mesmo moinho, …». 51
Alhos Vedros. Informações Paroquiais de Alhos Vedros e Moita, Igreja Paroquial de Alhos Vedros, 1992 COELHO, António Borges - Ruas e Gentes na Lisboa Quinhentista, Lisboa, Editorial Caminho, 2006, p.25 CUSTÓDIO, Jorge – “Moinhos de Portugal. Algumas Questões do seu Estudo e Salvaguarda sob o Ponto de Vista do Património Industrial” in I Encontro Nacional sobre o Património Industrial, Actas e Comunicações, Volume I, Coimbra Editora, 1989, pp. 343-389
FRUTUOSO, Gaspar - Livro Quarto das Saudades da Terra, Ponta DelA situação de decadência aqui registada já não é uma novidade, uma gada, Instituto Cultural de Ponta Delgada, 1º Volume, Cap. XXXVII, § vez que em 1759, o seu proprietário, Luís de Albuquerque Mendon- 2, 1924, pp. 243-244 ça Furtado 52 teve que hipotecar os bens e os rendimentos do Mor- MARTINS, Adolfo Silveira; MIRANDA, Jorge Augusto; ABREU, Rogégado da Casa da Cova 53 para levar a efeito as obras de recuperação rio; ALBINO, Teresa Pacheco – Moinho de Maré do Cais das Faluas. do edifício, devido à ruína que sofrera com o terramoto de 1755. No O Renascer de uma Memória, Edições Colibri e Câmara Municipal do auto de vistoria realizado, foi avaliado um valor de dois contos de reis Montijo, s. d. para essa recuperação, valor que poderia render depois do conserto duzentos mil reis 54 . Desconhecemos se estas obras foram realizadas, NABAIS, António J. C. Maia - Moinhos de Maré – Património Industrial, apenas sabemos que o seu estado de ruína não foi motivo de impe- Câmara Municipal do Seixal, 1986. dimento para que continuasse a laborar, só possível de ser justificado pelos arrendamentos consecutivos, celebrados em 1756, 1758 e 1759. OLIVEIRA, Ernesto Veiga de; GALHANO, Fernando; PEREIRA, Benjamim Provavelmente as obras necessárias no moinho restringiam-se a pe- – Tecnologia Tradicional Portuguesa. Sistemas de Moagem, Lisboa Insquenos consertos, a nível das paredes, do telhado e dos muros da tituto Nacional de Investigação Científica, 1983 caldeira, não estavam relacionadas com a estrutura do edifício, pelo que não colocavam em causa o seu funcionamento. No entanto, tudo VALEGAS, Augusto Pereira (Ed. e Coord.) parece indicar que estava numa fase de acelerada decadência, quan- Um Olhar sobre o Barreiro, II Série, Nº.4, Abril 1991 do apresenta nos alvores do século XIX, somente três engenhos a fun- Um Olhar sobre o Barreiro, III Série, Nº.2, Novembro 1993 cionar. Perante esta situação coloca-se-nos uma questão. Quando é que o moinho foi ampliado para os seis casais de mós? VENTURA, António Gonçalves - A “Outra Banda” e a Expansão Portuguesa: O Contributo dos Fornos do Biscoito de Vale de Zebro, ComuniPresentemente não dispomos de informação que nos permita afirmar cação apresentada na Academia de Marinha, 2009. quando foi esta estrutura recuperada e ampliada para os seis engenhos, isto é, quando é que o moinho adquiriu a sua imagem arquitec- FONTES: tónica, tal como a conhecemos hoje. Possivelmente, essas obras terão Arquivo Distrital de Setúbal ocorrido em data posterior ao contrato de arrendamento de 1808, Livros Notariais de Alhos Vedros: Livro Nº.4/12 (1630-1634); Livro mas como deixámos de ter escrituras, referentes ao moinho, nos Li- Nº.7/23 (1665-1672); Livro Nº.7/25 (1678-1679); Livro Nº.7/27 (1680vros Notariais de Alhos Vedros, há por conseguinte necessidade de 1681); Livro Nº.8/28 (1686-1689); Livro Nº.8/30 (1690-1693); Livro continuar com a investigação em outros documentos notariais, com Nº.8/33 (1696-1702); Livro Nº.9/35 (1702-1704); Livro Nº.9/37 (1710vista a continuarmos com a reconstrução da sua identidade histórica. 1715); Livro Nº.10/41 (1721-1727); Livro Nº.10/45 (1742-1755); Livro Nº.11/47 (1756-1762); Livro Nº.12/56 (1799-1804); Livro Nº.12/57 Na primeira metade do século XX, por volta de 1916, e, segundo as (1804-1813) informações orais, colhidas junto do filho 55 do último moleiro, Manuel José Moreira, o moinho era pertença de José Gago da Silva e Biblioteca Nacional laborou até 1939-1940, altura em que foi vendido a José Valagão, um “Treslado da Carta de Sesmaria” e “Treslado doutra Carta de Sesmaria” industrial de cortiça de Alhos Vedros. Segundo as mesmas fontes, foi in Practicarum Observationum Sive Decisionum Supremi Senatus Regeste novo proprietário que decidiu construir o piso superior, com vista ni Lusitaniae. Pars prima [-secunda]..., de Jorge de Cabedo, Antuérpia, a criar um espaço para armazenar as caixas da fábrica. 1620, pp.92-94 Em 1986, o moinho de maré foi adquirido pela Câmara da Moita, com Câmara Municipal da Moita a intenção de se proceder à sua recuperação. Este propósito foi con- Livro de Actas da Câmara de Alhos Vedros, de 1625-1635 cretizado, entre os anos 2006 e 2007, quando foi alvo de um projecto Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do Tombo de reabilitação do imóvel que o converteu num espaço cultural poli- Desembargo do Paço (Estremadura e Ilhas), Doc.54, Maço 2077 valente. “Livro Contendo os Tombos das Vilas de Aldeia Galega, Alcochete e Alhos Vedros pertencentes à Ordem e Mestrado” in Ordem de SantiaBibliografia go Convento de Palmela, 1614 ALMEIDA, António Lopes da Costa e - “Memória Histórico- Topográfica dos Estabelecimentos de Vale de Zebro, Telha e Azinheira” in Annais Marítimos e Coloniais, IV Séria, Lisboa, 1844, pp. 365-366 ALVES, Padre Carlos Fernando Póvoa - Subsídios para a História de Refere-se aos muros da caldeira. “Escriptura de aRendamento do moinho da Asenha”, de 9 de Agosto de 1808, in Livro Nº.12/57, Tabelião Manuel de Gambôa (1804-1813), Fl.82v 52 Luís de Albuquerque Mendonça Furtado era casado com Dona Inês Joana de Cárcomo, de quem teve uma filha, Violante Maria Catarina de Mendonça. 53 Com a instituição do Morgado da Casa da Cova, por Pedro Mendonça, no 50 51
século XVI, o Moinho de Maré, juntamente com o Moinho Novo e o Palácio, passaram a integrar o conjunto dos bens do Morgadio, tal como é referido nas escrituras de arrendamento. 54 A.N.T.T., Desembargo do Paço (Estremadura e Ilhas), Doc.54, Maço 2077 55 O senhor Artur Moreira tinha no ano de 1990, altura em que foi entrevistado, 78 anos.
FUNDiÇÃO 35
Moinhos a sul do tejo - Seixal
Um património histórico e técnico ancestral: os moinhos de maré do Seixal Ana Cláudia Silveira (*) Entre os séculos XIII e XVIII, foram construídos no estuário do Tejo pelo menos 45 moinhos de maré, o que representa uma das maiores concentrações conhecidas a nível mundial. Entre esse impressionante conjunto de moinhos, pelo menos treze estruturas moageiras maremotrizes foram implantadas nos séculos XV e XVI no território correspondente ao atual concelho do Seixal, subsistindo atualmente dez, todas elas classificadas como Imóveis de Interesse Público1.
A construção e manutenção de moinhos de maré representavam um elevado investimento, revelando-se, contudo, rentável em locais de elevada concentração demográfica e com acentuado dinamismo portuário 5 , como se viria a verificar no estuário do Tejo na Baixa Idade Média, o que explica que entre os seus proprietários se encontrem diversos mosteiros da cidade de Lisboa, assim como figuras destacadas da sociedade coeva. Aproveitando a maré: os empreendimentos dos séculos XV a XVIII
O Moinho de Maré de Corroios, um dos núcleos do Ecomuseu Municipal do Seixal, e o bote de fragata «Baía do Seixal». © EMS-CDI – António Silva, 2009.
O moinho de maré de Corroios é um dos mais antigos edifícios deste tipo no estuário do Tejo, devendo-se a sua edificação em 1403 à iniciativa do Condestável Nuno Álvares Pereira 6 no contexto da gestão do senhorio de Almada, o qual lhe foi concedido pela Coroa em recompensa pelos serviços prestados durante a Crise de 1383-1385. Mais tarde, o moinho viria a ser integrado no património do Mosteiro de Santa Maria do Carmo de Lisboa, fundado pelo Condestável.
Estes edifícios desempenharam um papel importante no dinamismo económico da região, assegurando a produção de farinhas para consumo local, o abastecimento da cidade de Lisboa e também a produção de biscoito destinado ao aprovisionamento das armadas portuguesas que se dirigiam para os territórios de além-mar, não podendo assim dissociar-se do incremento da produção de biscoito de embarque promovido pela Coroa nos Estabelecimentos Régios da Porta da Cruz, em Lisboa2 , e de Vale de Zebro, no Barreiro3 , sabendo-se que a entrada em funcionamento destes A sala de moagem do Moinho de Maré de Corroios. últimos ocorreu entre 1448 e 14884. © EMS-CDI – Guilherme Cardoso, 2010. 1 (*) Técnica Superior de História da Câmara Municipal do Seixal, integrando a Divisão de Cultura e Património/ Ecomuseu Municipal. Decreto do Governo nº 29/84, de 25 de Junho. 2 A este respeito, vd. Carlos Caetano, A Ribeira de Lisboa na época da Expansão Portuguesa (séculos XV a XVIII), Lisboa, Pandora, 2004, pp. 126 e 168-169. 3 Idem, ibidem, pp. 125-128; António Gonçalves Ventura, “A «Outra Banda» e a expansão portuguesa: o contributo dos fornos do biscoito de Vale de Zebro” in Memórias da Academia de Marinha, vol. XXXIX, 2009, pp. 291-307.
FUNDiÇÃO 36
4 Ana Cláudia Silveira, “Novos contributos para o estudo dos moinhos de maré no Estuário do Tejo: empreendimentos e protagonistas (séculos XIII-XVI)” in Olhares sobre a História. Estudos oferecidos a Iria Gonçalves, coord. Amélia Aguiar Andrade, Hermenegildo Fernandes e João Luís Fontes, Lisboa, Caleidoscópio, 2009, pp. 601-602. 5 Locais esses onde a produção dos moinhos convencionais se revelava insuficiente: Adam Lucas, Wind, Water, Work. Ancient and Medieval Milling Technology, Leiden-Boston, Brill, 2006, p. 99. 6 António J. C. Maia Nabais, Moinhos de Maré – Património Industrial, Seixal, Câmara Municipal do Seixal, 1986, pp. 45-47.
Moinhos a sul do tejo - Seixal A edificação de moinhos de maré constituiu, pois, uma estratégia de investimento por parte de uma elite, parâmetro comum a diversos edifícios deste tipo no Seixal, designadamente o moinho de maré da Quinta da Palmeira, erguido em 1485 por Afonso Álvares, desembargador da Casa da Guiné7 , e mais tarde vendido pelos seus herdeiros ao Mosteiro de Santa Maria de Belém da Ordem dos Jerónimos8. Está igualmente presente na edificação do moinho do Zeimoto em 1516 por Gonçalo Zeimoto, cavaleiro da Ordem Militar de Santiago9, ou ainda no caso da edificação de um outro moinho de maré promovida por D. Garcia de Noronha em torno de 153010, antes, portanto, da sua nomeação como vice-rei da Índia, cargo que exerceu entre 1538 e 154011.
des de Vila Franca do Campo 15, tendo este tipo de investimento representado também uma interessante fonte de rendimentos para indivíduos que se distinguiram no serviço régio, como é o caso das famílias Gama Lobo 16 ou Sousa Mexia 17 . Permitiu ainda estabelecer conexões a negociantes com múltiplos interesses económicos no comércio internacional, como sucedeu com Feliciano Velho Oldemberg, que, em meados do século XVIII, detinha o contrato do comércio de tabaco em regime de monopólio e, em simultâneo, explorava o moinho de maré da Torre18. Virar a maré: a conjuntura dos séculos XIX e XX
Na sequência da extinção das ordens religiosas masculinas em 1834, os moinhos pertencentes aos CarA investigação em curso, além de ter estabelecido a melitas, Jerónimos e Paulistas foram incorporados na existência de um maior número de estruturas do que Fazenda Nacional e vendidos em hasta pública, sendo as anteriormente conhecidas no estuário do Tejo e de adquiridos por diversos indivíduos oriundos da elite ter recuado a respetiva cronologia 12 , tem permitido económica e política local. Entre este novo grupo de ainda identificar entre os responsáveis pela edificação proprietários e investidores, identificam-se diversos de moinhos de maré do Seixal algumas figuras oriun- elementos das administrações concelhias de Almada e das de importantes casas senhoriais, como os condes do Seixal, caso de João Luís Lourenço 19 e seu genro Dode Linhares 13 , a casa de Ericeira-Louriçal 14 ou os con- mingos Afonso 20 , da família Gomes 21 , de José O’Neill Vista aérea da da Baía do Seixal, vendo-se em primeiro plano a Ponta dos Corvos, onde foram edificados diversos moinhos de maré (da esquerda para a direita, os moinhos da Torre, da Passagem e do Capitão). © EMS-CDI – António Silva, 2005. 7 ANTT, Santa Maria de Belém, Maço 3, doc. 11. 8 Idem, ibidem, doc. 14. 9 ANTT, Chancelaria de D. Manuel I, Livro 24, fls. 37-37v. 10 ANTT, Chancelaria de D. João III, Livro 16, fls. 66v-67. 11 Tratado de Todos os Vice-Reis e Governadores da Índia, Lisboa, Editorial Enciclopédia, 1962, pp. 93-95 e 101. 12 Ana Cláudia Silveira, op. cit., pp. 596-609. 13 ANTT, Cartório dos Jesuítas, maço 5, nº 39. 14 Arquivo Histórico da Santa Casa da Misericórdia de Almada, Livro 26, fls. 45-46v. 15 Arquivo da Família Gama Lobo Salema, Caixa 6, Pasta 38, nº 263. 16 ANTT, Ordem do Carmo, Santa Maria do Carmo de Lisboa, Livro 55, fls. 91-91v. Vários elementos desta família desempenharam o ofício de escrivão da Casa da Índia, assumindo a partir do reinado de Filipe III o desempenho do cargo de escrivão da Fazenda: ANTT, Chancelaria de D. Filipe III, Livro 25, fl. 41. Ainda em 1830, António Xavier da Gama Lobo era referido como Escrivão da Câmara do Conselho da Fazenda: Arquivo da Família Gama Lobo Salema, Caixa 3, Pasta 14. 17 Arquivo Histórico Municipal de Almada, Livros de Décimas, Livro 15, fl. 220v. Bartolomeu de Sousa Mexia, foi Secretário das Mercês de D. Pedro II, tendo-lhe sido confiada a guarda do príncipe D. Miguel, nascido em 1699, fora do matrimónio: cf. João Bautista de Castro, Mappa de
Portugal antigo e moderno, Tomo I, 3ª ed. revista, Lisboa, Typografia Panorama, 1870, p. 258. 18 ANTT, Ordem do Carmo, Santa Maria do Carmo de Lisboa, Livro 63, fls. 27-30. Sobre esta interessante figura, vd. Tiago C. P. dos Reis Miranda, “A «Companhia de Comércio da Ásia» de Feliciano Velho Oldemberg (1753-1760)” in O Terramoto de 1755. Impactos históricos, org. Ana Cristina Araújo, José Luís Cardoso, Nuno Gonçalo Monteiro, Walter Rossa, José Vicente Serrão, Lisboa, Livros Horizonte, 2007, pp. 199-208. 19 Importante negociante de vinhos estabelecido em Almada, o qual foi, entre 1819 e 1845, perfeito da Irmandade do Senhor Jesus da Via Sacra e Nossa Senhora da Graça estabelecida na ermida do Espírito Santo de Almada. 20 Foi vice-cônsul dos Estados Unidos da América em Portugal, encontrando-se ainda documentado como vereador da Câmara Municipal de Almada em 1858 e 1861, informação que agradecemos ao investigador António Neves Policarpo, vindo dois dos seus filhos, Domingos Afonso Junior e Libânio Augusto Afonso, a exercer funções como presidentes da Câmara Municipal de Almada no último quartel do século XIX. 21 No século XIX, encontramos diversos membros da família Gomes ligados à exploração do moinho de maré de Corroios, que produziu farinha para a empresa “Moinhos Reunidos”, a qual viria a desempenhar um papel de relevo na industrialização do sector moageiro em Portu-
FUNDiÇÃO 37
Moinhos a sul do tejo - Seixal Pedrosa, ligado à exploração dos moinhos de maré da Torre e da Passagem 22 , ou da família Almeida Lima, sucessores de Abraham Wheelhouse na exploração do moinho de maré da Quinta da Palmeira 23.
dos nos anos subsequentes. A nível local, o Grupo de Investigação e Divulgação Científica (GIDC), sediado em Almada (e posteriormente com um núcleo constituído na Escola Secundária da Amora), promoveu a reflexão sobre a questão das alternativas energéticas No início do século XX, a Nova Companhia Nacional de e, por essa via, deu enfoque ao estudo dos moinhos Moagem controlou vários imóveis deste tipo no Seixal, de maré 27. de forma a aumentar a sua quota de acesso ao trigo importado, que era condicionada à capacidade de pro- Data de Fevereiro de 1976 a primeira intervenção fordução de cada empresa 24. mal da Comissão Democrática Administrativa da Câmara Municipal do Seixal para assegurar a proteção A concorrência das moagens a vapor obrigou os moi- dos moinhos de maré existentes no concelho, através nhos tradicionais a um processo de reconversão, pelo de um ofício enviado pelo seu Presidente, Eufrázio Filique muitos deles foram adaptados a outras ativida- pe, à Comissão Nacional para o Ano do Património Ardes. O descasque de arroz, a moagem de vidro para quitetónico Europeu, que se assinalou em 1975, alera indústria cerâmica, o fabrico de massas alimentícias, tando para a falta de proteção a que estavam sujeitos, o fabrico de guanos, a produção de adubos, a explo- aludindo-se à recente destruição do Moinho de Maré ração de ostras levada a cabo nas caldeiras de alguns da Raposa, assim como ao aterro da caldeira do Moimoinhos e, até, a instalação de um aviário 25 foram al- nho de Maré do Breyner. gumas das soluções então adotadas. Havia a perceção de que a desindustrialização enDe instrumentos de produção a património técnico e tão em curso na margem sul do estuário do Tejo e o histórico As transformações políticas e sociais ocorri- acelerado crescimento urbano a que se assistia podas em Portugal após o 25 de Abril de 1974 favorece- tenciavam a destruição de vestígios materiais repreram, quer a introdução de novos conceitos relativos à sentativos da identidade histórica e cultural local, deproteção patrimonial, quer a eclosão de movimentos signadamente das atividades económicas tradicionais associativos locais de defesa do património. O Plano que outrora haviam sido fatores de desenvolvimento de Trabalho e Cultura, desenvolvido sob a conceção das comunidades. e a liderança de Michel Giacometti no Verão de 1975 com o objetivo de efetuar um levantamento patrimo- Em consequência deste novo contexto sócio-cultural nial a nível nacional 26 , inspirou muitos levantamentos e do esforço concertado de autarcas e associações cípatrimoniais de âmbito local ou regional desenvolvi- vicas, o Instituto Português do Património Cultural re-
gal, pois esteve na origem da firma “Viúva de Manuel José Gomes & Filhos”, responsável pela fundação, em Almada, da Moagem do Caramujo, onde se instalou, no final do século XIX, um sistema de moagem austro-húngaro. Trata-se igualmente de uma família influente a nível local, registando-se alguns dos seus membros entre a vereação municipal de Almada no final do século XIX: vd. Alexandre Flores, António José Gomes: o homem e o industrial, Almada, Junta de Freguesia da Cova da Piedade, 1992, pp. 23-37 e Jaime Alberto do Couto Ferreira, Farinhas, Moinhos e Moagens, Lisboa, Âncora Editora, 1999, pp. 168-169. 22 Tendo exercido funções como Presidente da Câmara Municipal do Seixal entre 1887 e 1889 e de 1898 a 1900: cf. António Augusto Rodrigues Palaio, Os Presidentes da Câmara Municipal do Seixal, 1836/1974, edição de Autor, 2003, p. 7. 23 Abraham Wheelhouse, cidadão inglês de origem judaica, terá vindo para Portugal no início do século XVIII, tendo sido responsável pelo fornecimento de pão às tropas inglesas que combateram no nosso País aquando das invasões francesas. Terá posteriormente adquirido diversas propriedades, entre as quais a Quinta da Palmeira e vastos terrenos na zona do Seixal, Paio Pires, Almada, Barreiro e Azeitão, integrando no seu património o moinho de vento do Mexilhoeiro, que havia sido edificado por Geraldo Wenceslau Braamcamp de Almeida Castelo Branco, Barão de Sobral e o moinho de maré do Braamcamp, no Barreiro (cf. Ana de Sousa Leal Leal e Augusto Pereira Valegas, “Abordagens Documentais para a História dos Moinhos do Barreiro” in Um Olhar sobre o Barreiro, III série, nº 2, Novembro de 1983, p. 8 e 41 e Jorge Custódio, “As questões da moagem no Barreiro na 1ª metade do século XIX e o moinho gigante do Barão do Sobral” in Um Olhar sobre o Barreiro, nº
FUNDiÇÃO 38
4, 1986, pp. 7-15), onde instalou uma fábrica de bolacha. Viria ainda a arrematar em hasta pública os armazéns do Convento de S. Francisco em Lisboa (atual Museu do Chiado), onde construiu um conjunto de fornos para produção industrial de bolachas. A sua filha Georgiana veio a casar com José Joaquim de Almeida Lima, filho de Domingos Jorge de Almeida Lima, sócio fundador, em 1836, da Companhia das Lezírias do Tejo e do Sado (cf. Jorge Almeida Lima – fotógrafo amador, Lisboa, Instituto Português de Museus, 1997), conservando-se em posse dos filhos deste casal, Jorge e José Almeida Lima, este último Presidente da Câmara Municipal do Seixal entre 1890 e 1895 e de 1908 a 5 de Outubro de 1910, a Quinta da Palmeira no Seixal e o seu moinho de maré, que permaneceram na família até à sua expropriação para a construção do complexo da Siderurgia Nacional a partir de 1958. 24 Jaime Alberto do Couto Ferreira, op. cit., pp. 217-233. 25 Ana Cláudia Silveira, “New contributions to the study of tide mills of the Tagus estuary: the case of Seixal” in Transactions – 11 th International Symposium of TIMS. Portugal, 25 th September-2 nd October 2004, ed. Jorge Augusto Miranda e Michael Harverson, Belas, Etnoideia, 2007, pp. 159-161. 26 Para uma descrição detalhada do Serviço Cívico Estudantil e do Plano de Trabalho e Cultura, vd. Jorge Freitas Branco e Luísa Tiago de Oliveira, Ao Encontro do Povo, vol. I – A Missão, Oeiras, Celta Editora, 1993, pp. 9-24. 27 Sobre a atividade desta associação, vd. o suplemento Divulgação Científica editado no Jornal de Almada entre 4 de Março de 1977 e 21 de Outubro de 1983.
Moinhos a sul do tejo - Seixal conheceu a importância patrimonial dos moinhos de maré do concelho do Seixal pelo seu “interesse cultural, como exemplar de arquitectura industrial, sendo aliás de notar a sua raridade em Portugal”, publicando-se a 25 de Junho de 1984 o Decreto do Governo que permitiu a salvaguarda deste conjunto patrimonial classificando os edifícios subsistentes como Imóveis de Interesse Público.
e os aspetos técnicos inerentes ao seu funcionamento, mas também a sua integração paisagística e ambiental, assim como a relação que o mesmo invoca com problemáticas do mundo atual como a das energias renováveis, da biodiversidade ou da salvaguarda dos recursos hídricos.
Foi neste contexto que se procedeu à musealização do Moinho de Maré de Corroios, à época o último moinho de maré ainda em laboração na Península Ibérica, e à respetiva integração no Ecomuseu Municipal do Seixal, encetando uma experiência pioneira na recuperação patrimonial de um edifício de inegável interesse histórico e técnico, que beneficiou da vantagem acrescida de manter em funcionamento os engenhos de moagem graças à possibilidade de conservar todo o património integrado no imóvel e de dispor do saber-fazer do antigo moleiro, Guilherme de Almeida. Através deste breve percurso pela história da moagem no Seixal é possível constatar como a mesma é transversal a múltiplos aspetos que forjaram a identidade deste território, fornecendo contributos sobre a sua organização económica, social e política. O estudo dos moinhos de maré permite esclarecer aspetos como a interdependência da região em relação a Lisboa, a sua inscrição nas estratégias patrimoniais de diversas casas aristocráticas e monásticas, as relações do Seixal com os demais concelhos ribeirinhos da margem sul do estuário do Tejo, o contributo do complexo de fornos de biscoito de Vale do Zebro e dos moinhos de maré para a logística da Expansão, ou a emergência de um novo quadro económico no século XIX e a consequente afirmação de uma renovada elite política.
Ateliê de reciclagem construtiva realizado no Núcleo do Moinho de Maré de Corroios no âmbito do programa S. Martinho no Moinho, em Novembro de 2010. © EMS-CDI – Carla Costa, 2010.
O conjunto de iniciativas que tem vindo a ser desenvolvido no Moinho de Maré de Corroios, dirigido quer a público escolar, quer a famílias, visa potenciar este espaço museológico que cada vez mais se assume como congregador de públicos, relembrando o papel outrora desempenhado pelos moinhos enquanto espaços de encontro da comunidade local.
Atualmente, o Moinho de Maré de Corroios constitui um dos núcleos museológicos integrados no Ecomuseu Municipal do Seixal, tendo sido adquirido e preservado pela autarquia na década de 1980. Através de uma exposição evocativa dos seus 600 anos de atividade, a qual contribui também para documentar a atividade desenvolvida pelos moinhos de maré do Seixal e do estuário do Tejo, de exposições temporárias que a complementam e de iniciativas diversas dirigidas a públicos distintos, o programa de ativida- Visita temática “Um perna-longa no moinho”, uma das ativides implementado neste espaço tem sido norteado dades realizadas no Moinho de Maré de Corroios. pelo propósito de oferecer uma visão integradora © EMS-CDI – Carla Costa, 2010. sobre o edifício e a sua envolvente. Deste modo, têm sido promovidas abordagens multifacetadas sobre este imóvel de forma a valorizar não só a sua história FUNDiÇÃO 39
Moinhos a sul do tejo - Barreiro
Moinhos de maré do estuário do tejo que futuro? Manuel Ferreira Fernandes
CONTRIBUTOS PARA UM PROJECTO DE RECONVERSÃO «É com profunda saudade que vejo desapparecer pouco a pouco os vestígios da nossa indústria caseira. A machina vae triturando tudo no seu movimento vertiginoso, sem que mão piedosa se lembre de apanhar esses restos, humildes mas gloriosos, depositando-os depois em sítio, onde possam ser cuidadosamente estudados e onde a curiosidade lhes preste o merecido culto. Existe a archeologia da arte, porque não há de existir a archeologia da industria?»
modo simples, durante a maré vazante, embora o Major Jorge Higgs ainda tivesse apresentado um projecto para um moinho de funcionamento duplo, aproveitando o fluxo e refluxo das marés (enchente e vazante) no rio Judeu (braço de rio que entra no Seixal) de modo a aumentar o número de horas de moagem. Por aproveitarem exclusivamente a energia cinética das águas acumuladas nas suas caldeiras, durante a preia-mar, para fazer rodar as mós, eram amigos do ambiente e integravam-se harmoniosamente na paisagem sendo por isso ainda hoje memória e ícone das gentes ribeirinhas.
Sousa Viterbo, Archeologia Industrial Portuguesa – Os moinhos, Na fase final da sua existência, já quase nos fins do século XX, quando a moagem de cereais passou a ser realizada pelas máin «O Archeologo Português», vol. II, nº 8 e 9, 1896, p. 193 quinas mecânicas e eléctricas surgidas desde o início da Revolução Industrial, muitos destes moinhos foram ainda usados para 1. O passado dos Moinhos outros fins como serrações de madeiras ou no descasque de arroz. O estuário do Tejo albergou um importante complexo moageiro usando um impressionante conjunto de moinhos de água salgaNo Barreiro, que chegou a possuir pelo menos 12 destes moida, mais conhecidos por moinhos de maré que, desde o século nhos, eles localizaram-se ao longo da Margem direita do rio CoiXIII e ao longo de mais de sete séculos, moeram os cereais usana, em Alburrica e no Lavradio (ver tabela I). dos para fazer o pão de que se alimentaram os nossos antepassados. E, ainda, para fazer o biscoito que constituía o alimento base dos navegadores portugueses, que ao mar se faziam para 2. O presente descobrir novas rotas, e assim dar novos Mundos ao Mundo. Depois de séculos a moer, os moinhos foram progressivamente abandonados e, por inércia dos seus proprietários e dos goverChegaram a ser 40 unidades nos 6 concelhos ribeirinhos, da nantes, que não tiveram a visão para os reconverter ou reutilizar, Margem Esquerda do Estuário do Tejo, Almada, Seixal, Barreiro, este património proto-industrial foi envelhecendo e desmoroMoita, Montijo e Alcochete. nando-se até atingir as ruínas que hoje encontramos. A construção destes moinhos exigiu avultados investimentos em diques, açudes e comportas que fechavam as caldeiras ou represas permitindo aprisionar a água durante a preia mar, bem como nos seus rodízios e edifícios que serviam de residência aos moleiros, onde eram armazenados os cereais e a farinha e eram instalados ou guardados os equipamentos e utensílios de moagem (moegas, mós, tremonhas, peneiras, etc).
Deve no entanto referir-se que houve Homens que tentaram evitar este triste fim dos moinhos. Desde a sua total recuperação após a destruição provocada pelo terramoto de 1755, até à sua reconversão no Seixal, para outros fins, como é exemplo:
«a introdução de uma máquina a vapor no Moinho Velho dos Paulistas, quando no final da segunda metade deste século foi Por esse motivo só as ordens religiosas ou as famílias nobres utilizada pela Sociedade Industrial Alegria, para produção de e abastadas os construíram, entregando a sua posterior explo- farinha de peixe e de adubos, a fim de garantir a utilização ração aos moleiros contra o pagamento de rendas. De entre permanente do estabelecimento industrial» (1). os proprietários constam nomes tais como Padres Paulistas de Lisboa, Convento do Carmo, Frades Trinos, Frades Jerónimos, Presume-se que esta máquina a vapor funcionava em regime de complementaridade de modo a assegurar a produção entre Nuno Álvares Pereira, Rei D. Fernando... marés, logo após as caldeiras ficarem vazias. De acordo com a bibliografia consultada todos funcionaram em
FUNDiÇÃO 40
Moinhos a sul do tejo - Seixal Há também um registo sobre a sua eventual utilização para pro- Alguns dos moinhos de maré existentes no nosso concelho, os dução de electricidade no Moinho de Vale de Zebro onde: seus diques, açudes, comportas e caldeiras têm ainda valor e oportunidade de serem reconvertidos para aproveitamento da « Há montadas umas turbinas para serem movidas pela queda energia hídrica armazenada nas suas caldeiras durante a preia de água da caldeira do moinho annexo, a fim de darem mo- mar. vimento a um dínamo que fornecerá a energia eléctrica para os aparelhos de carreira, iluminações do edifício e machinas Nos tempos que correm, em que o efeito de estufa, provocado, da escola de torpedos moveis que está instalada no mesmo entre outros pelas emissões de dióxido de carbono libertado edifício» (2). pelas máquinas mecânicas alimentadas por combustíveis fósseis constitui uma séria ameaça para a sobrevivência da humaFinalmente referir ainda que, houve também quem se preocu- nidade e do planeta que habitamos, é urgente aumentar a propasse com a preservação para memória futura, na medida em dução de energias limpas e renováveis. que: Surge assim e agora uma oportunidade para os nossos moinhos “Representando uma experiência vivida e admiravelmente de maré: resolvida no decorrer do tempo, esse imenso museu arquitectonológico esteve até hoje escondido dos nossos olhos por A sua Reconversão para unidades de Transformação da Enerum estranho mimestismo e agora, em plena desagregação e gia Hídrica em Energia Eléctrica, por instalação de conjuntos ameaçando desaparecer sem deixar vestígios, põe-nos a Turbina-Gerador (Centrais Mini-hídricas). oportunidade da sua lição e a necessidade de a colhermos sem demora” (3). A realidade é que, mesmo com estas utilizações e preocupações, os moinhos de maré foram caindo, e alguns desaparecendo mesmo, perante a passividade dos seus proprietários e organismos estatais da Energia, Ambiente, Turismo e Cultura, como ilustram as imagens seguintes, tiradas recentemente ao Moinho do Braancamp e de Palhais, respectivamente.
Reservatório deve ser entendido neste caso como Caldeira ou Esteiro (Imagem obtida na Internet e adaptada) Reconversão que advogamos e que se fundamenta nos seguintes pressupostos: 1.Esta reconversão poder ser feita a custos moderados por reutilização dos diques, açudes, comportas e caldeiras existentes depois de devidamente reparadas, preparadas e/ou desassoreadas. 2.Haver duas marés diárias que podem assegurar a produção de energia eléctrica durante cerca de 6h/dia em funcionamento simples ou de 12 horas em modo duplo, aproveitando o fluxo e refluxo das marés.
3. O futuro que preconizamos
3.Só por si este facto é já relevante dado que, quer chova quer faça sol, todos os dias há marés. Apresentam assim vantagens quer relativamente aos geradores eólicos que estão dependentes da existência e intensidade do vento quer relativamente aos geradores solares que só produzem energia durante o dia e estão dependentes de o Sol estar ou não encoberto.
«Por entre os diversos engenhos arcaicos de moenda que existiram ou ainda existem no nosso país – os moinhos de vento, as azenhas e os moinhos de maré – são estes últimos os mais esquecidos e os mais ignorados» 4.O “estado da arte” actual de conjuntos Turbina-Geradores de FernandoCastelo-Branco tecnologia inovadora, baseados no princípio de Pelton para as turbinas e no efeito de indução de Tesla para os Geradores, o A Associação Barreiro – Património, Memória e Futuro não se que permite admitir uma produção da ordem dos 250 KWh. Por conforma com este estado de coisas. cada moinho poderia assim atingir-se uma produção de 1,5 MW
FUNDiÇÃO 41
Moinhos a sul do tejo - Barreiro por dia (250 KW x 6 h). Isto é, mais de 1 GWh de energia por ano, em caso de funcionamento duplo.
e determinação das instituições e das pessoas a quem compete avançar com os estudos e projectos para a sua concretização.
5.Mesmo que só seja possível reconverter sete dos moinhos que existiram, podemos assim esperar uma produção anual de cerca de 8 GW nos moinhos do Barreiro. E muito superior se o programa incluir todo o Estuário do Tejo.
Notas: (1) – António J. C. Maia Nabais, História do Concelho do Seixal – património industrial, Moinhos de Maré, 1996, p. 75 (2) – Vasco Lobo e Alfredo da Mata Antunes, Problemas Actuais da Pequena Habitação Rural, Direcção Geral dos Serviços de 6.Confiamos no entanto que a Engenharia Portuguesa nos ra- Urbanização (Centro de Estudos de Urbanismo), Coimbra,1960, mos de Hidráulica, Mecânica, Civil e Electrotecnia disponha ac- p.123 tualmente de conhecimento científico e capacidade para opti- (3) – Alberto Pimentel, A Extremadura Portuguesa. I Parte - O mizar este cenário e aumentar significativamente estes valores. Ribatejo, Lisboa, 1908, p. 66 Nomeadamente pela utilização de múltiplos conjuntos turbina-gerador a exemplo do que era feito nos moinhos de maré, onde Tab. I funcionavam várias moendas (ver tab. I). Moinhos de Maré no Concelho do Barreiro 7.A produção local de Energia Eléctrica por aproveitamento das Marés, teria a seu favor o facto de os custos operacionais com a sua construção, manutenção e transporte de Energia serem significativamente mais económicos do que a produzida por ondas ou correntes marítimas em Alto Mar (produção off shore). Só como exemplo podemos citar o caso de Alburrica onde, para além do Moinho de Braancamp, funcionaram mais três moinhos, o Pequeno, o Grande e o do Cabo, com caldeiras contíguas como ainda se pode observar na fotografia aérea. Dada a concentração de moinhos de maré, a sua reconversão para mini-hídricas permitiria a associação de geradores e distribuição conjunta da energia produzida. Na maré vazante, a abertura das comportas poderia ser sequencializada, aumentando moderadamente o número de horas de produção de energia. Um projecto desta natureza, de indiscutível valor económico, ambiental e cultural, poderia ainda acrescentar mais valias ao nível do turismo e do desporto pois, entre outras reutilizações possíveis, nos edifícios dos moinhos reconvertidos poderiam funcionar restaurantes panorâmicos com uma oferta de gastronomia ribeirinha e as caldeiras poderiam ser usadas para a prática de desportos náuticos e aquáticos. Para além das instituições governamentais representando o poder central e local, para além da Universidade, seria desejável que um Projecto desta natureza pudesse contar com a participação dos proprietários dos Moinhos, das empresas EDP Renováveis e REN no âmbito da sua actividade económica e também da sua Responsabilidade Social e Ambiental. No caso de não avançarem, restaria ainda a hipótese de constituição de uma nova empresa de âmbito local com esta finalidade (Start Up), naquilo que poderia configurar a recriação da antiga Sociedade Industrial do Bonfim. Está lançado o desafio. Acreditamos na boa vontade, no saber
FUNDiÇÃO 42
(*1) – O moinho já não existe. Somente a caldeira usada para treino militar (*2) – Restando ainda uma caldeira com comportas, requalificada no Polis, popularmente conhecida por “caldeira do alemão” Bibliografia: •UM OLHAR SOBRE O BARREIRO, Nº2, III Série, Nov.1973 •Nabais, António J. C. Maia, História do Concelho do Seixal, património industrial, MOINHOS de MARÉ, Câmara Municipal do Seixal, 1986 •Ventura, António Gonçalves, ALHOS VEDROS – Economia, Administração e Demografia Secs.XIV-XVIII, 2014 •Ferreira, Jaime Alberto do Couto, Farinhas, Moinhos e Moagens, Ancora Editora, 1999 •MUSA, Museus, Arquelogia & outros patrimónios, FIDS & MAEDS, Autarquias do Distrito de Setúbal, Vol.3, 2010 •Rota do Trabalho e da Indústria – Conteúdos Históricos, Câmara Municipal do Barreiro, 2012
Moinhos a sul do tejo - Barreiro
O moinho da serração e a caldeira do sangue Armando Sousa Teixeira
Naquele
ano os hóspedes-artistas, oriundos do Circo Mariano que nunca faltava às Festas do Barreiro, pertenciam a uma família magiar. Avô e dois netos jovens-adultos que pouco sabiam da nossa língua, eram contorcionistas exímios, dos melhores do mundo circense. O avô já entradote na idade que arranhava umas palavras em “portunhol”, era muito ríspido no tratamento dos moços, exigente nos horários, na alimentação e no treino diário. Às oito da manhã os dois irmãos corriam pela avenida da Praia num tempo em que nenhum autóctone se atrevia a tal. Mas o corredor da casa, tão comprido para as brincadeiras dos infantes, era exíguo para os exercícios de aplicação física. Que incluíam mortais à frente e à rectaguarda. Arranjar um local apropriado era um problema complicado, mas o anfitrião conhecia o responsável-caseiro residente do Moinho Grande e da “Caldeira do Sangue” que fora assim baptizada por receber os efluentes líquidos do Matadouro Municipal. O parente e amigo Quintino, dos tempos dos bailaricos nos “Penicheiros” e das grandes pescarias no Tejo, anuiu cordialmente ao pedido e o treino do duo iniciou-se, durante horas e horas na parte da tarde, depois de um almoço substancial que o ancião preparava com muitas verduras, frutos e ovos a acompanharem uns bons bifes de cavalo. Os exercícios muito exigentes, passaram a ser feitos no armazém contíguo ao moinho de maré, não funcional, mas ainda com as comportas a regularem a entrada e saída das águas da caldeira, evitando o seu assoreamento. O armazém fora limpo e arrumado
pela família húngara, ficando com um comprimento útil de cerca de trinta metros, onde os dois jovens artistas, musculados e flexíveis, faziam mortais à frente e à rectaguarda numa sucessão alucinante e espectacular. Era isto que faziam no circo, explicava o avô Joseph que fora dos treinos era um homem cordial mas durante os exercícios gritava na sua língua materna, exigindo sempre mais. Quando o parente Quintino veio inteirar-se da satisfação dos “convidados”, o velho húngaro mostrou curiosidade pela história do Moinho de Maré adjacente que fora construído provavelmente nos finais do século XVII, princípios do século XVIII, com sete moendas, por isso baptizado como Moinho Grande, propriedade de Manuel de Sampaio Pina e depois de um filho, Inácio Sampaio de Pina Freire, já no século XIX. Funcionou durante quase dois séculos ininterruptamente com as marés que vêm e vão a cada seis horas, moendo farinha para a panificação e fabricação de massas e de bolachas. Nos finais do século XIX (1892) foi vendido a Rui de Albuquerque d`Orey, engenheiro dos Caminhos de Ferro que o adaptou para a serração de madeiras, passando a ser conhecido por Moinho da Serração e como tal funcionando até um incêndio em 1907, destruir completamente as instalações. Os edifícios do Moinho de Maré, o Armazém adstrito e a Casa do Vigilante, então propriedade do Banco Burnay, constituíam um aglomerado característico na paisagem de Alburrica, com uma pequena praia adjacente onde alguns pescadores artesanais estacionavam os seus barquitos. Aberta a conversa o senhor Joseph contou, mais por mímica, que era a
primeira vez que estavam em Portugal, contratados pelo senhor Mariano. O país era muito bonito e o povo português assaz simpático. Havia algumas semelhanças com o seu país natal, também muito bonito mas marcado pela 2ª Guerra Mundial que envolvera a sua família em tragédia. Os pais dos rapazes, igualmente artistas de circo, tinham sido mortos pelos invasores nazis e os moços, ainda pequenos, foram criados por si, também antigo contorcionista: - Mataram filho e mulher! Malditos “germanis”!...- contou com a voz embargada e uma lágrima teimosa na hora da partida, agradecendo a hospitalidade dos anfitriões: - Para ano novo, cá voltar! Não voltaram, constou que regressaram à Hungria a braços com uma grave crise política. * A sirene dos bombeiros da Salvação Pública tocou durante a noite de sono na vila operária. Três toques, três vezes, de forma aflitiva, repetida! Àquela hora, quatro da madrugada, devia ser grave e era dentro da terra. - Cheira-me a queimado! – ouviu a mãe preocupada quando estremunhou. O pai levantou-se sobressaltado e foi inteirar-se do sucedido. Quando voltou contou que estava a arder o armazém contíguo ao Moinho da Serração, transformado recentemente em armazém de cortiça dos “Algarvios” que o tinham adquirido ao banco e onde há poucos anos haviam treinado os contorcionistas húngaros. “Fogo posto para salvar o negócio!”dizia-se à boca pequena na vila, antes de se saber o resultado da peritagem da companhia de seguros.
FUNDiÇÃO 43
Proxima edição: A industria Cortiçeira