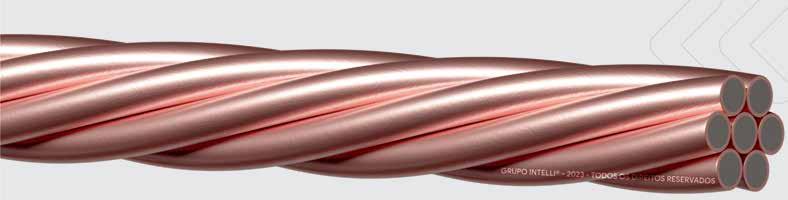ATUALIZAÇÃO INCLUI CORREÇÕES EM VALORES DE CORRENTES ADMISSÍVEIS, MUDANÇA DE CONCEITOS DE ATERRAMENTO, NOVO PROTOCOLO PARA TESTES DE CABOS E REQUISITOS ADICIONAIS DE PROTEÇÃO, VOLTADOS À EXPANSÃO DA GD
ARTIGO TÉCNICO:


ATERRAMENTO DE USINAS SOLARES (UFV) COM O USO DO TRUNK CABLE - POR WAGNER COSTA
TRANSMISSÃO: CAMINHOS DA ENERGIA - CAPÍTULO 7
OS LEILÕES DE TRANSMISSÃO: OS PRINCIPAIS PASSOS



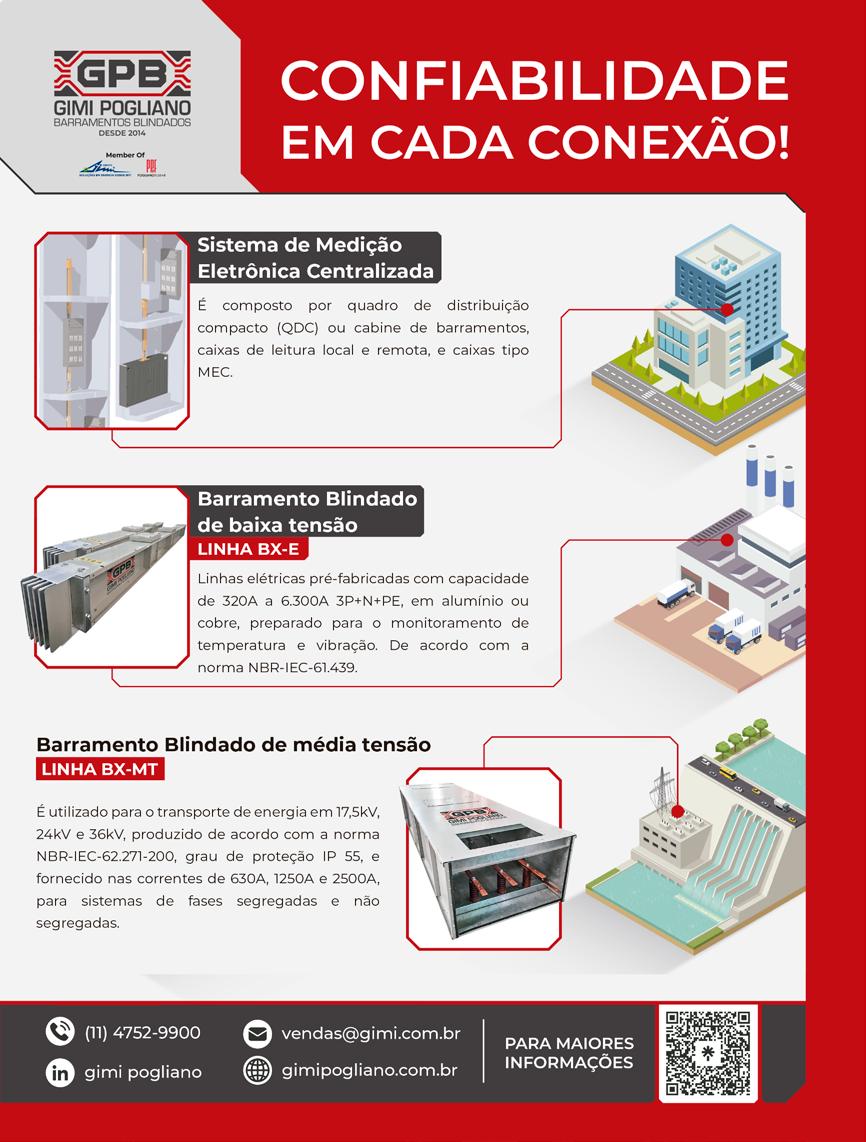
atitude@atitudeeditorial.com.br
Diretores
Diretores
Adolfo Vaiser - adolfo@atitudeeditorial.com.br
Adolfo Vaiser
Simone Vaiser - simone@atitudeeditorial.com.br
Simone Vaiser
Editor-chefe - MTB - 0014038/DF
Edmilson Freitas - edmilson@atitudeeditorial.com.br
4 Editorial
O Curtailment e a segurança do sistema
Aterramento de usinas solares (UFV) com o uso do trunk cable - Por Wagner Costa
10 Desempenho de Linhas de Transmissão Frente a Descargas Atmosféricas
Coordenação de conteúdo e pauta Flávia Lima - flavia@atitudeeditorial.com.br
Assistente de circulação, pesquisa e eventos Henrique Vaiser – henrique@atitudeeditorial.com.br Victor Meyagusko – victor@atitudeeditorial.com.br
Administração
Reportagem
Matheus de Paula - matheus@atitudeeditorial.com.br
Roberta Nayumi administrativo@atitudeeditorial.com.br
Assistente de circulação, pesquisa e eventos administrativo@atitudeeditorial.com.br
Marketing e mídias digitais
Henrique Vaiser - henrique@atitudeeditorial.com.br
Editor
Letícia Benício - leticia@atitudeeditorial.com.br
16 Nova Norma de Arco Elétrico - comentada pela comissão
20 Transmissão: Caminhos da energia
26 Inovação na distribuição e novas tecnologias de suporte: inteligência artificial, realidade virtual e blockchain
32 Por Dentro das Normas
Edmilson Freitas edmilson@atitudeeditorial.com.br
Pesquisa e circulação
Maria Elisa Vaiser - mariaelisa@atitudeeditorial.com.br
Reportagem
Administração
Fernanda Pacheco - fernanda@atitudeeditorial.com.br
Paulo Martins - paulo@atitudeeditorial.com.br
Roberta Mayumi - administrativo@atitudeeditorial.com.br
Publicidade
Publicidade
Comercial
Diretor comercial
Diretor comercial
Adolfo Vaiser
Adolfo Vaiser - adolfo@atitudeeditorial.com.br (11) 98188 – 7301
Paulo Barreto - NBR 5410 / Aguinaldo Bizzo – NR 10 / Marcos Rogério - NBR 14039
38 Artigo Técnico
Rearme automático em cabines primárias de média tensãoPor Uriel Horta e Gustavo Carvalho
42 Espaço Aterramento
Contato publicitário
Willyan Santiago - willyan@atitudeeditorial.com.br (11) 98490 – 3718
Willyan Santiago - willyan@atitudeeditorial.com.br
Oswaldo Christo - oswaldo@atitudeeditorial.com.br (31) 9 9975-7031 / (31) 3412-7031
Direção de arte e produção
Diagramação
O método científico em projetos de aterramento
44 Espaço Cigre-Brasil
Leonardo Piva - atitude@leonardopiva.com.br
Leonardo Piva - atitude@leonardopiva.com.br
Leonardo Piva - leopiva@gmail.com
Colaboradores desta edição
Atualização regulatória é urgente para modernizar a rede elétrica brasileira
46 Espaço Abradee
A batalha contra os “gatos”: do prejuízo bilionário à nova lei que endurece punições
Huais, Luiz Carlos Catelani Junior, Daniel Bento, Danilo de Souza, Mello, Monica Saraiva Panik, Lílian Ferreira Queiroz, Lindemberg Nunes
Silva, Arnaldo José Pereira Rosentino Junior e Marcus Vinícius Borges
Aguinaldo Bizzo de Almeida, Paulo Roberto Borel Júnior, Renato Jardim Teixeira, Thiago Francisco Gomes, Henrique Fernandes Borges, Caio Huais, Luiz Carlos Catelani Junior, Daniel Bento, Danilo de Souza, Emmanuela de Almeida Jordão, Frederico Carbonera Boschin, Paulo Edmundo Freire, Jose Maurilio da Silva, Rinaldo Botelho, João Carlos Mello, Monica Saraiva Panik, Lílian Ferreira Queiroz, Lindemberg Nunes Reis, Luciano Rosito, Claudio Mardegan, Nunziante Graziano, Jose Starosta, Fabrício Augusto Matheus Moura, Ana Carolina Ferreira da Silva, Arnaldo José Pereira Rosentino Junior e Marcus Vinícius Borges Mendonça.
Colaboradores da publicação: Wagner Costa, Rafael Alípio, Fernando Diniz, João Drumond, Naiara Duarte, Claudio Mardegan, Filipe Resende, Márcio Bottaro, Rogério Pereira de Camargo, Danilo Belpiede, Bruno Laurindo, Antônio Mário Kaminski Júnior, Otacílio de Oliveira Carneiro Filho, Filipe Gabriel Carloto, Alan Jaques Krindges, Vinícius Jacques Garcia, Carlos Henrique Barriquello, Paulo Barreto, Aguinaldo Bizzo, Marcos Rogério, Paulo Edmundo Freire da Fonseca, Antonio Carlos Barbosa Martins, Aline Cristiane Pan, Luciano Rosito, Roberto Godoy Fernandes, Leila Oliveira, Bruno Hessel, Frederico Boschin, José Starosta, Nunziante Graziano, José Barbosa, Daniel Bento, Danilo de Souza, Roberval Bulgarelli, Caio Huais e Yuri Andrade.
Com publicação prevista para 2026, revisão da ABNT NBR 14039 incorpora padrões internacionais à norma
54 Pesquisa Setorial
A Revista O Setor Elétrico é uma publicação mensal da Atitude
Fale conosco contato@atitudeeditorial.com.br Tel.: (11) 98433-2788
A Revista O Setor Elétrico é uma publicação mensal da Atitude Editorial Ltda., voltada aos mercados de Instalações Elétricas, Energia e Iluminação, com tiragem de 13.000 exemplares. Distribuída entre as empresas de engenharia, projetos e instalação, manutenção, indústrias de diversos segmentos, concessionárias, prefeituras e revendas de material elétrico, é enviada aos executivos e especificadores destes segmentos.
Engenharias, consultorias, projetos e instalações elétricas
Distribuída entre as empresas de engenharia, projetos e instalação, e especificadores destes segmentos.
62 Aline Cristiane Pan - Inovação e Equidade no Setor Elétrico
63 Luciano Rosito – Iluminação Pública
reprodução total ou parcial das matérias sem expressa autorização
Os artigos assinados são de responsabilidade de seus autores e não necessariamente refletem as opiniões da revista. Não é permitida a reprodução total ou parcial das matérias sem expressa autorização da Editora.
Capa: istockphoto.com | Chirapriya Thanakonwirakit
A Revista O Setor Elétrico é uma publicação mensal da Atitude Editorial Ltda., voltada aos mercados de Instalações Elétricas, Energia e Iluminação, com tiragem de 13.000 exemplares. Distribuída entre as empresas de engenharia, projetos e instalação, manutenção, indústrias de diversos segmentos, concessionárias, prefeituras e revendas de material elétrico, é enviada aos executivos e especificadores destes segmentos. Os artigos assinados são de responsabilidade de seus autores e não necessariamente refletem as opiniões da revista. Não é permitida a reprodução total ou parcial das matérias sem expressa autorização da Editora.
Impressão - Referência Editora e Gráfica
Capa: Gerada por IA
Distribuição - Correios
Impressão - Gráfica Grafilar
Distribuição - Correios
64 Frederico Boschin - Conexão Regulatória
66 Cláudio Mardegan – Análise de Sistemas Elétricos
68 José Starosta – Energia com Qualidade
70 Aguinaldo Bizzo – Segurança do Trabalho
71 Nunziante Graziano – Quadros e painéis
72 José Barbosa – Proteção contra raios
Atitude Editorial Publicações Técnicas Ltda.
Atitude Editorial Publicações Técnicas Ltda. Rua Piracuama, 280, Sala 41
Fone - (11) 98433-2788 www.osetoreletrico.com.br
Atitude Editorial Publicações Técnicas Ltda. www.osetoreletrico.com.br atitude@atitudeeditorial.com.br Filiada à
Cep: 05017-040 – Perdizes – São Paulo (SP) Fone - (11) 98433-2788 www.osetoreletrico.com.br atitude@atitudeeditorial.com.br Filiada à

75 Daniel Bento – Redes Subterrâneas em Foco
74 Danilo de Souza – Energia, Ambiente & Sociedade


76 Roberval Bulgarelli – Instalações EX
77 Caio Cezar Neiva Huais – Manutenção estratégica
Aconfiabilidade do sistema elétrico depende de um equilíbrio delicado entre geração, transmissão, distribuição e consumo. Com a entrada maciça das renováveis, esse equilíbrio se tornou mais complexo. O curtailment, ou seja, a redução ou o desligamento forçado da geração renovável devido a limitações na rede ou à falta de equilíbrio entre oferta e demanda. Esse fenômeno, do qual já tratei anteriormente aqui, está diretamente ligado à segurança do sistema elétrico, conceito que envolve a capacidade de manter a estabilidade e a confiabilidade do fornecimento mesmo diante de oscilações e imprevistos.
Em períodos de alta geração renovável e baixa demanda, os operadores precisam limitar a injeção de energia para evitar sobrecargas ou instabilidades. Embora, tecnicamente necessário, o curtailment traz impactos econômicos, desperdiça energia limpa e pode comprometer a segurança operacional a longo prazo, especialmente se a rede não evoluir na mesma velocidade que a expansão da geração.
Com a expansão das renováveis em regiões de alto potencial, como o Nordeste, a oferta de energia cresce em ritmo mais acelerado que a capacidade de transmissão e a demanda local. Diante disso, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) precisa intervir para evitar sobrecargas, desequilíbrios de frequência e risco de blecautes, determinando cortes na geração. Esse processo, por sua vez, impacta contratos de compra e venda de energia, causa perdas financeiras às geradoras e levanta questionamentos sobre a previsibilidade e a equidade das decisões operacionais.
A complexidade aumenta porque a intermitência das renováveis exige uma operação mais dinâmica e sofisticada. Diferente das hidrelétricas e térmicas, fontes solares e eólicas têm produção variável, demandando do ONS um planejamento de despacho cada vez mais integrado a sistemas de previsão climática, modelos de simulação e ferramentas digitais capazes de antecipar cenários críticos e minimizar cortes desnecessários.
Ao mesmo tempo em que o ONS atua para evitar sobrecargas e quedas de frequência, precisa manter reserva operativa e capacidade de resposta rápida para contingências. Isso requer coordenação fina entre agentes de geração, transmissão e distribuição.
Para aumentar a confiabilidade e reduzir o curtailment, soluções vêm sendo debatidas e implementadas em diversos países. Entre elas, destacam-se:
- Armazenamento de energia, que permite guardar a produção excedente para uso posterior, ajudando a equilibrar o sistema;
- Expansão e modernização da transmissão, eliminando gargalos que limitam o escoamento da energia gerada;
- Redes inteligentes e digitalização, que possibilitam uma operação mais dinâmica e previsível;
- Mecanismos de mercado para flexibilidade, que remuneram recursos capazes de estabilizar a rede em momentos críticos.
Capazes de absorver a produção excedente e liberá-la em horários de maior demanda, os sistemas de armazenamento de energia, sem dúvida, devem figurar como a alternativa mais eficiente e viável para redução dos impactos do curtailment. Além disso, a criação de mercados de capacidade e flexibilidade surge como alternativa para valorizar ativos que garantam estabilidade ao sistema.
No Brasil, onde o potencial renovável cresce de forma acelerada, a segurança do sistema dependerá cada vez mais da capacidade de integrar planejamento energético, inovação tecnológica e políticas públicas. Se bem conduzido, esse movimento pode transformar o desafio do curtailment em uma oportunidade para tornar o setor elétrico mais resiliente, sustentável e preparado para as metas de descarbonização.
Reduzir o curtailment e aumentar a confiabilidade do sistema não é apenas uma questão técnica, mas estratégica. Envolve garantir energia limpa, acessível e estável para sustentar o crescimento econômico e os compromissos ambientais. O desafio está posto — e a resposta dependerá da capacidade de alinhar políticas públicas, investimentos e tecnologia para construir um setor elétrico mais resiliente e eficiente.


Acompanhe nossas novidades pelas redes sociais:











































































































Por Wagner Costa
As energias renováveis no Brasil cresceram em larga escala nos últimos 10 anos, chegando em 2025 a ocupar 7,2% (17.209 MW) da matriz energética brasileira, com planejamento de chegar em 2029 a 9% (24.248 MW) da matriz, [1] nas usinas fotovoltaicas (UFV) de geração centralizada.
Ao longo dos diversos terrenos e locais que são implantadas no Brasil, algumas dificuldades são encontradas como locais com muitas pedras e com elevada dificuldade para realização de escavações e que devido ao porte das gerações centralizadas este serviço tem custo significativo na implantação das usinas fotovoltaicas, que possui uma área com algumas dezenas de quilômetros quadrados.
Uma solução para este tipo de terreno é a aplicação da solução do sistema Trunk Cable (“cabo tronco”), que faz com que o caminhamento dos cabos de baixa e média tensão, sejam direcionadas para as strings, eletrocentros e subestação coletora (ou parte destes cabos), através de suportes aéreos e interligados entre si, através de um cabo mensageiro, como apresentado um exemplo na figura 1. Este tipo de aplicação modifica o desempenho do sistema de aterramento de maneira significativa, tanto em curtocircuito à terra, quanto frente a descargas atmosféricas, seja ela direta ou indireta, pois agora teremos os cabos expostos a descargas atmosféricas diretas e as interligações entre os aterramentos aéreos, que não há dissipação da energia da corrente nestes trechos.
Os impactos destas modificações de construção de UFV com a aplicação de Trunk cable, muda completamente o desempenho do sistema de aterramento em curto-circuito (60 Hz) e frente a descargas atmosféricas.
A figura 2 apresenta uma UFV com potência de 650 MWp e diagonal de 7km, num solo de 2.000 Ω.m (alta resistividade, conforme [2]), onde foi aplicado uma corrente de 3kA de curtocircuito monofásico, após as divisões de correntes entre os sistemas de aterramento da UFV + subestação coletora e linha de transmissão. Nas figuras 3 a 5 são apresentados os resultados para um curto-
circuito monofásico na barra de alta tensão da subestação coletora da UFV. A figura 3 apresenta o GPR, figura 4 tensões de passo e figura 5 as tensões de toque, todas ao longo do sistema de aterramento da UFV + subestação coletora. Para este conjunto de aterramento considerado, obtivemos uma impedância de aterramento (60 Hz) de 0,49 Ω <22°.
O curto-circuito monofásico de magnitude de 3kA, para a geometria do sistema de aterramento e resistividade do solo uniforme, resultou uma impedância de aterramento (módulo e fase), pois devido às dimensões do sistema de aterramento da UFV não temos equipotencialidade, mesmo em 60 Hz, como tivemos um ângulo positivo o indutivo dos condutores foi significativo, neste caso para que não haja subdimensionamento do sistema de aterramento aplicamos o software adequado, neste caso o XGSLab®.
As tensões de passo foram maiores próximas ao ponto de injeção de corrente, onde aconteceu o curto-circuito, neste caso na subestação coletora, já as tensões de toque maiores foram na parte leste da UFV, devido sua maior proximidade com a subestação coletora, contudo as tensões próximas aos módulos fotovoltaicos e eletrocentros, foram mais altas, isso ocorreu pois no trecho dos trunk cables a energia da corrente não é dissipada no solo e uma maior corrente estará sendo impressa nesses condutores aéreos, consequentemente maiores tensões de toque, quando comparados por exemplo aos cabos enterrados diretamente no solo.
As diferenças das tensões de toque e passo quando comparamos ao modelo todo enterrado, podem não ser um problema para o projeto de aterramento da UFV, porém sua correta avaliação e análise deve ser realizada de maneira cautelosa e com a aplicação do software correto, bem como sua devida modelagem e análise crítica dos resultados. A modelagem das estacas do suporte e um melhor detalhamento na modelagem auxilia muito na otimização e representação do sistema de aterramento com maior aderência à realidade.

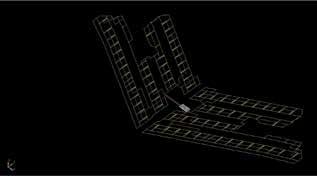
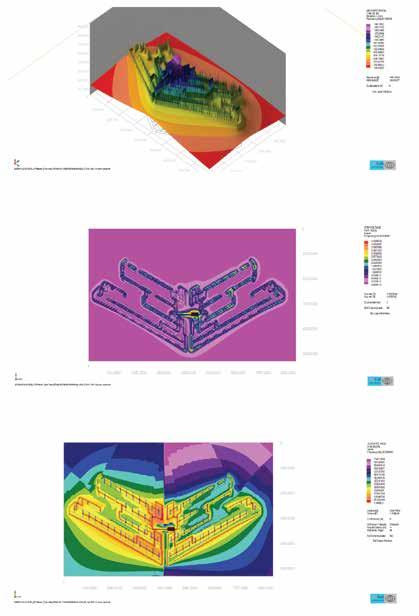
REFERÊNCIAS:
[1] ONS, Evolução da capacidade instalada do SIN – junho 2025/dezembro 2029, junho/2025, https://www.ons.org.br/paginas/sobreo-sin/o-sistema-em-numeros
[2] ABNT, “NBR 7117-1: Parâmetros do solo para projetos de aterramentos elétricos - Parte 1: Medição da resistividade e modelagem geoelétrica”. 2020.
[3] ABNT, NBR5419-3: Proteção contra descargas atmosféricas - Parte 3: Danos físicos a estruturas e perigos à vida. 2015.







A resiliência das Linhas de Transmissão (LTs) também é testada pelo seu desempenho frente às descargas atmosféricas. A partir desta edição, trataremos deste assunto sob a coordenação do Eng. Eletricista Rafael Alipio, que é doutor em Engenharia Elétrica pela UFMG e professor do CEFET-MG, onde coordena o Laboratório de Transitórios Eletromagnéticos (LabTEM). Possui ampla experiência em desempenho de linhas de transmissão e desenvolve pesquisas e consultorias técnicas na área.

Este fascículo apresenta o uso de ferramentas computacionais para a avaliação do desempenho de linhas de transmissão frente a descargas atmosféricas, com ênfase no programa IEEE FLASH.
A escolha do FLASH como foco se deve ao fato de se tratar da ferramenta mais utilizada mundialmente para estimativa de taxas de desligamento por descargas, sendo open source, de aplicação simples e com histórico de validação em linhas reais. Essas características tornam o FLASH especialmente adequado para a fase de projeto básico, quando ainda não se dispõe de todos os detalhes construtivos da linha, mas já é necessário obter estimativas de desempenho.
Na apresentação do IEEE FLASH, adota-se uma abordagem prática, com um estudo de caso de uma LT de 230 kV. Nesta Parte I, descrevem-se as principais entradas de dados necessárias ao programa — geometria da linha, características dos condutores, impedância de surto da torre, suportabilidade da cadeia de isoladores e distribuição das resistências de pé de torre. O objetivo é mostrar, de forma didática, como cada um desses parâmetros é representado no FLASH e qual o seu papel na avaliação do desempenho da linha frente a descargas atmosféricas.
2 – BREVES ASPECTOS HISTÓRICOS DO PROGRAMA IEEE FLASH
O programa IEEE FLASH foi desenvolvido e é mantido por grupos de trabalho (Working Groups – WG) do IEEE dedicados ao desempenho de linhas de transmissão frente a descargas atmosféricas, com o objetivo de implementar e testar os métodos
do IEEE para estimativa da taxa de desligamentos por descargas em linhas aéreas, originalmente baseados na abordagem de J. G. Anderson [1]. A capacidade preditiva do FLASH foi aprimorada ao longo do tempo por meio de comparações e calibrações sucessivas com taxas de desligamentos de linhas reais.
A primeira versão do programa foi escrita em FORTRAN pelo WG do IEEE, considerando os métodos e modelos descritos em [1, 2], e posteriormente convertida para BASIC, culminando na versão FLASH 1.6, que se consolidou como a principal até a publicação do IEEE Std 1243 em 1997 [3]. Com o passar dos anos, diversas correções foram incorporadas para alinhar o programa às práticas mais recentes de estimativa do desempenho de linhas de transmissão. As mudanças mais relevantes ocorreram na transição da versão 1.6 para a 1.7, descritas no Apêndice B do IEEE Std 1243 [3], destacando-se:
• a adoção do modelo de largura de atração de Eriksson com altura no topo da torre e expoente 0,6 (em substituição à altura média dos condutores e expoente 1,09);
• a atualização da curva de suportabilidade da cadeia de isoladores, passando de uma avaliação fixa em 2 ⎧s para a dependência com o tempo de retorno das reflexões dos vãos adjacentes (comprimento de vão).
Posteriormente, o código fonte foi convertido de BASIC para C++, com a correção de pequenos erros. Buscando ampliar o acesso e compatibilidade, o FLASH foi incorporado a uma interface em Excel (.xls) para entrada de dados, resultando na versão 1.9, que se tornou a versão consolidada para cálculo do desempenho de linhas sem a presença de dispositivos para-raios ZnO.
É importante destacar que, apesar da disponibilidade da versão



1.9, no Brasil a versão 1.6 ainda é amplamente utilizada em projetos de linhas de transmissão. Em [4], apresenta-se uma comparação e discussão detalhada entre os resultados fornecidos pelas versões 1.6 e 1.9 para linhas de 345 kV e 500 kV. Os resultados mostram que a versão 1.6 tende a subestimar a taxa de desligamentos por backflashover em relação à versão 1.9, sendo que a diferença se acentua com o aumento do comprimento típico de vão. Por esse motivo, o uso da versão 1.6 deve ser tratado com cautela em novos projetos. Sua adoção isolada não é recomendada e, caso seja empregada, o projetista deve complementar os estudos com simulações utilizando a versão 1.9, de modo a verificar a coordenação de isolamento e obter estimativas mais realistas da taxa de desligamentos.
Atualmente, encontra-se em desenvolvimento o IEEE FLASH 2.0, que busca incorporar modelos mais avançados, como formas de onda de corrente mais realistas, modelos refinados de ruptura de isoladores e, adicionalmente, a possibilidade de inclusão de pararaios ZnO e de cabos underbuilt.
Versões revisadas do FLASH, com código em Microsoft Excel VBA, estão disponíveis em www.sourceforge.net/projects/ieeeflash, assim como o código-fonte em C. Os resultados e exemplos discutidos neste fascículo utilizam a planilha versão 1.9, de maio de 2012, obtida no site citado.
Com o objetivo de apresentar, de forma didática, o uso do programa IEEE FLASH no cálculo de desempenho de linhas de transmissão e, ao mesmo tempo, destacar as simplificações adotadas em sua metodologia, optou-se por uma abordagem prática. Para isso, será discutido um exemplo de aplicação, no qual são analisadas as etapas de entrada de dados e a forma como cada parâmetro é utilizado nos cálculos do programa.
Como exemplo, considera-se uma LT de 230 kV com extensão aproximada de 120 km, vão médio de 450 m e estrutura predominante do tipo autoportante, ilustrada na Fig. 11. As cadeias de isoladores típicas instaladas nas estruturas ao longo da linha possuem 14 discos de vidro, cada um com diâmetro de 254 mm e passo de 146 mm, totalizando 2,044 m de comprimento (desconsideradas as ferragens). Adota-se, ainda, que a LT percorre uma região com densidade média de descargas atmosféricas para o solo Ng=3 descargas/km2/ano.
3.1 – Dados dos condutores fase e cabos de blindagem
A linha de transmissão possui um condutor por fase do tipo CAL 1120 679 kCM (diâmetro nominal de 24,08 mm) e dois cabos de blindagem: um cabo de aço 3/8’’ EHS (diâmetro nominal de 9,14 mm) e um cabo OPGW 12,4 (diâmetro nominal de 12,4 mm). A Tabela 1 apresenta as coordenadas cartesianas dos condutores fase e dos cabos de blindagem, considerando a estrutura predominante


Fig. 1 – Geometria da estrutura predominante da LT de 230 kV considerada no exemplo
Tabela 1 – Coordenadas cartesianas dos condutores fase e dos cabos de blindagem da estrutura predominante da LT de 230 kV.
Condutor
A (fase)
Circuito 1
PR 1
PR 2
B (fase) C (fase)
1 Atualmente, no Brasil, seja por critérios econômicos ou por facilidades construtivas, as linhas de transmissão têm sido majoritariamente construídas com torres do tipo estaiadas. Já linhas mais antigas, de extensão reduzida, situadas em terrenos muito íngremes ou em regiões onde se exige faixa de servidão estreita, frequentemente utilizam torres autoportantes como configuração típica. Neste fascículo, para fins didáticos, considerou-se uma linha de 120 km com estrutura predominante do tipo autoportante. mostrada na Fig. 1. As flechas dos condutores fase e dos cabos de blindagem, na temperatura típica de operação, são, respectivamente, 18,16 m e 14,44 m, conforme definidas pelas cargas mecânicas aplicadas aos cabos.
A Fig. 2 apresenta a entrada de dados dos condutores fase e cabos de blindagem na planilha do programa FLASH. No campo Bundled, foi inserido o valor 1, já que a LT possui apenas um condutor por fase. Nos casos em que as fases são constituídas por feixes de condutores, deve-se informar o número de subcondutores e o espaçamento entre eles; o FLASH reduz internamente o feixe a um




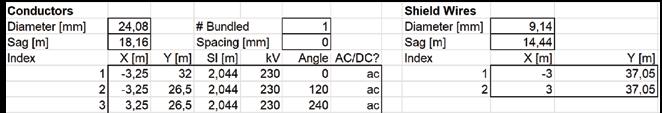
Fig. 2 – Entrada de dados dos condutores fase e cabos de blindagem no programa IEEE FLASH.
condutor equivalente, considerando arranjos convencionais de 2, 3 ou 4 subcondutores2
Para os cabos de blindagem, o programa admite a entrada de um único tipo de cabo. No exemplo em questão, entrou-se com diâmetro do cabo de aço 3/8’’. Como os diâmetros típicos de cabos de blindagem e OPGW são da mesma ordem de grandeza, a diferença entre usar um ou outro é desprezível para os cálculos.
Vale observar que as resistências por unidade de comprimento dos condutores, bem como a resistividade do solo, não são solicitadas, uma vez que as perdas não são consideradas nos cálculos internos do FLASH. Essa simplificação é aceitável do ponto de vista prático, pois, no cálculo de sobretensões atmosféricas, os efeitos mais relevantes concentram-se no trecho próximo ao ponto de impacto da descarga, normalmente abrangendo poucos vãos adjacentes. Assim, a desconsideração das perdas constitui uma aproximação razoável para este tipo de análise.
As seguintes quantidades são calculadas a partir dos dados da Fig. 2 e utilizadas no cálculo dos transitórios decorrentes da incidência de descargas atmosféricas na LT:
• Correção do raio dos condutores fase (ou raio equivalente, no caso de feixe) e dos cabos de blindagem, para considerar os efeitos do envelope de corona sob tensões elevadas. Essa consideração resulta em um aumento do raio dos condutores e em uma modificação de sua capacitância. Para os cabos de blindagem, o envelope de corona pode atingir, em alguns casos, cerca de um metro de diâmetro, influenciando de forma significativa as tensões induzidas nos condutores fase.
• Cálculo das impedâncias de surto dos condutores fase e dos cabos de blindagem. A impedância de surto dos condutores fase é fundamental para a determinação da corrente mínima capaz de provocar ruptura da isolação no caso de falha de blindagem. Já a impedância de surto dos cabos de blindagem é essencial para definir a divisão da corrente entre a torre e os próprios cabos, no caso de incidência direta de descarga no topo da torre — foco principal desta série de fascículos.
• Fator de acoplamento (Kn): a parcela da corrente de descarga que flui pelos cabos de blindagem induz tensões nos condutores fase. A relação entre a tensão induzida no condutor fase n e a tensão no topo da torre é expressa pelo fator de acoplamento Kn, calculado a partir das coordenadas geométricas dos condutores da LT.
3.2 – Impedância de surto da torre
O fenômeno de propagação de ondas ao longo da torre, bem como as reflexões nos pontos de descontinuidade torre–aterramento e torre–cabos de blindagem, desempenha papel relevante no cálculo das sobretensões que aparecem nas cadeias de isoladores. Para considerar esses efeitos, a torre é modelada como uma linha de transmissão curta, de comprimento igual à sua altura h, com impedância de surto constante (Z_T) e aterrada em sua base pela resistência de pé de torre. O tempo de trânsito (τ_T) ao longo da torre é definido como a razão entre sua altura e a velocidade da luz (c=300 m/µs)3
A impedância de surto da torre é calculada a partir de suas características geométricas, adotando-se a geometria simplificada que mais se aproxima do perfil da estrutura, conforme ilustrado na Fig. 3. A Fig. 4 mostra a entrada de dados do FLASH para a estrutura da Fig. 1, considerando uma geometria cônica representativa. Vale ressaltar que o FLASH não permite a entrada direta de torres do tipo estaiadas. Uma forma prática de representá-las é utilizar o modelo waist [Fig. 3(c)], assumindo r₂ = r₃ e ajustando a cabeça da torre conforme as dimensões da torre específica. Embora os estais tenham função predominantemente mecânica, eles também conduzem parte da corrente das descargas incidentes na torre ou nos cabos de blindagem, reduzindo a impedância de surto equivalente. Esse efeito pode ser incorporado ao FLASH ajustando-se artificialmente às dimensões da torre, de modo que a impedância de surto calculada no programa coincida com a obtida externamente, considerando os estais.
3.3
A suportabilidade da cadeia de isoladores depende, fundamentalmente, do número de discos, que define o
2 Como citado, há uma limitação na entrada de dados do IEEE FLASH para condutores de linhas de transmissão: não é possível inserir diretamente feixes irregulares, como os utilizados em torres do tipo cross-rope com seis subcondutores ou em outras estruturas típicas de LTs de SIL elevado. Nesses casos, o usuário deve realizar a redução do feixe externamente ao programa e inserir o condutor equivalente no FLASH.
3 Em algumas abordagens, considera-se a velocidade de propagação ao longo da torre como uma fração da velocidade da luz, de modo a representar o aumento do “comprimento efetivo” percorrido pela onda devido à presença das treliças.























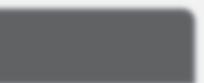



BARRAMENTO BLINDADO DE BAIXA E MÉDIA TENSÃO ATÉ 6.300A IP-55 - SISTEMA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA | LINHA BX - MT
CUBÍCULO BLINDADO MODULAR COM ISOLAÇÃO INTEGRAL EM SF6
PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO CLASSE 750/6.300A/1.000V ATÉ ICC DE 80kA
CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO COM ISOLAÇÃO A AR/ MISTO SF616KA/1S -
Retrofit em painéis elétricos de baixa e média tensão; Parametrização e comissionamento de relés de proteção; Manutenção de cabines primárias, painéis de baixa tensão, barramentos blindados.
Instalação de barramentos blindados; Estudos de energia incidente; Comissionamento e startup de painéis em obra.






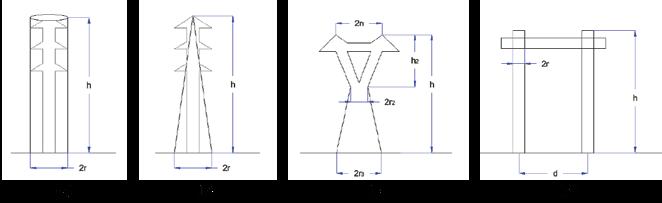
Fig. 3 – Modelos geométricos simplificados para cálculo da impedância de surto de torres: (a) cilíndrica, (b) cônica, (c) cinturada (waist), (d) tipo H ou pórtico (H-frame)
comprimento da cadeia. No caso da LT em análise, conforme mencionado anteriormente, as cadeias de isoladores típicas possuem 14 discos, totalizando 2,044 m de comprimento (sem considerar as ferragens). Esse valor deve ser inserido na coluna SI [m] – insulator string da Fig. 24
Com base no comprimento da cadeia de isoladores, o programa IEEE FLASH utiliza as chamadas curvas V–T, que descrevem a relação entre o valor de pico da onda de sobretensão aplicada e o tempo até a ocorrência da ruptura. Ressalte-se que tais curvas de suportabilidade são obtidas por meio de ensaios laboratoriais com ondas padronizadas do tipo dupla exponencial (1,2/50 µs) e, portanto, representam adequadamente o desempenho dos isoladores apenas quando submetidos a formas de onda desse tipo.
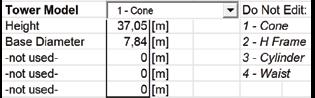
Fig. 4 – Entrada de dados do programa IEEE FLASH para cálculo da impedância de surto da torre (estrutura cônica do exemplo).
3.4 – Distribuição de resistências de pé de torre
O valor médio de resistência de aterramento adotado em projeto é definido em função da taxa máxima de desligamentos estabelecida pelo Operador Nacional do Sistema (ONS). Esse valor não segue regra fixa e depende das características específicas do empreendimento, em especial da suportabilidade da cadeia de isoladores, da densidade de descargas para o solo na região e da altura média das torres da LT. Discussões sobre critérios de projeto de aterramento, bem como sobre a configuração e o comprimento de cabos contrapeso, foram apresentadas nos Capítulos 3 e 4 desta série de fascículos.
Devido à variação da resistividade do solo ao longo do traçado, não se espera que todas as torres apresentem o mesmo valor de resistência de aterramento. Para representar adequadamente esse efeito, considera-se a distribuição de resistências de pé de torre da LT5
No programa IEEE FLASH, a entrada dessa distribuição segue a seguinte lógica: cada linha da tabela corresponde a um grupo de torres e contém duas informações — a frequência de ocorrência e o valor da resistência de pé de torre associado. A frequência pode ser expressa em porcentagem de torres, em número de torres ou em extensão de linha; em todos os casos, o programa normaliza os valores de frequência de modo que sua soma seja igual a 100%.
De posse dos valores de resistência de aterramento (obtidos por cálculo, medição ou uma combinação de ambos), recomenda-se o seguinte procedimento para preparação dos dados a serem inseridos no FLASH:
1 - Ordenar os valores de resistência de pé de torre em ordem crescente;
2 - Agrupar os valores em 10 conjuntos, definindo um valor representativo para cada conjunto6. Esse valor pode ser:
• o médio (recomendado na maior parte dos casos),
• o mediano (quando houver grande dispersão interna no conjunto), ou
• o máximo (quando se desejar uma abordagem conservadora).
Seguindo esse procedimento, a Fig. 5 apresenta a distribuição de resistências de pé de torre para a LT considerada como exemplo. O valor médio de cada grupo está indicado no topo das barras. Os valores médio e mediano globais da distribuição são, respectivamente, ~14 Ω e ~13 Ω. A Fig. 6 mostra a forma de entrada desses dados no programa IEEE FLASH.
No caso de isoladores poliméricos, deve-se utilizar como entrada a distância de arco a seco (dry arc distance) do isolador, em vez do comprimento físico total. Quando a cadeia incluir dispositivos de proteção, como anéis ou raquetes, deve-se considerar a distância elétrica efetiva, levando em conta a redução da distância de arco decorrente do uso desses acessórios. Os aspectos discutidos nos fascículos anteriores desta série se conectam diretamente com o presente texto ao tratar da distribuição de resistência de pé de torre. A realização de medições de resistividade confiáveis, o dimensionamento adequado do sistema de aterramento e, novamente, medições de qualidade da resistência de pé de torre permitem estimar, de forma mais precisa, a taxa de desligamentos com o uso do FLASH — sobretudo pela influência decisiva que a resistência de aterramento exerce nesse cálculo.
O agrupamento em 10 conjuntos mostra-se adequado em termos práticos, conforme [5], a partir de comparações realizadas com resultados obtidos por uma abordagem mais precisa baseada no método de Monte Carlo.




Fig. 5 – Distribuição da resistência de pé de torre da LT exemplo. Valores médios de cada grupo indicados no topo das barras
Cabe destacar que o IEEE FLASH também pode ser empregado já na fase de projeto básico, quando ainda não se dispõe de dados detalhados de resistividade do solo e de aterramento ao longo do traçado. Nesse caso, a entrada deve conter uma única linha com o valor médio estimado de resistência de aterramento, ajustado de forma iterativa até que a taxa de desligamentos calculada atinja o valor de referência estabelecido. Para a LT em análise, considerando as demais entradas discutidas e a densidade de descargas ao solo local, esse valor foi definido como 15 Ω. É interessante destacar que o valor obtido (15 Ω) é inferior ao de 20 Ω usualmente adotado em projetos, em função da menor suportabilidade das cadeias de isoladores das LTs de 230 kV (para uma discussão detalhada sobre o “critério de 20 ohms”, consultar o Capítulo 3 desta série).
Por fim, é importante observar que algumas estruturas podem apresentar resistência de pé de torre superior ao valor médio estabelecido em projeto. No entanto, considerando uma abordagem probabilística, é possível conviver com algumas estruturas que possuam resistência superior ao valor médio determinado e, ainda assim, preservar uma taxa de desligamento global aceitável para a LT.
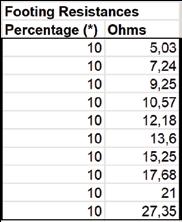
Fig. 6 – Entrada da distribuição de resistências de pé de torre no programa IEEE FLASH

Neste fascículo, apresentou-se o programa IEEE FLASH sob uma abordagem prática, destacando as principais entradas de dados utilizadas na avaliação do desempenho de linhas de transmissão, com base em um estudo de caso de uma LT de 230 kV.
No fascículo seguinte (Parte II), a discussão será complementada com as etapas de cálculo das sobretensões transitórias e da taxa de desligamentos, a avaliação do impacto das simplificações da metodologia do FLASH, o uso de plataformas do tipo EMT (ATP/EMTP/PSCAD) para superar essas limitações e, por fim, a apresentação de técnicas de melhoria do desempenho de linhas frente a descargas atmosféricas.
1. J. G. Anderson, “Chapter 12: Lightning Performance of Transmission Lines,” in Transmission line reference book, 345 kV and above, 2nd ed., Palo Alto: Electric Power Research Institute (EPRI), 1982, pp. 545–597.
2. IEEE Working Group on Estimating the Lightning Performance of Transmission Lines, “A Simplified Method for Estimating Lightning Performance of Transmission Lines,” IEEE Trans. of Power Apparatus and Systems, vol. PAS-104, no. 4, pp. 919–932, Apr. 1985.
3. IEEE Std 1243-1997, “IEEE Guide for Improving the Lightning Performance of Transmission Lines,” New York, 1997.
4. D. Conceição, M. Guimarães, R. Alipio, and W. A. Chisholm, “A discussion on the use of IEEE FLASH in the Brazilian context: why do distinct versions of the program are likely to provide very different results?,” in GROUND2020/2021 & 9th LPE Conference, Belo Horizonte, 2021, pp. 1–6.
5. R. Alipio, V. de Souza, F. A. Diniz, F. de Vasconcellos, W. A. Chisholm, and F. Moreira, “A Discussion on How to Consider the Statistical Distribution of Tower-foot Resistance Values on Lightning Performance Calculations,” in 2022 36th International Conference on Lightning Protection (ICLP), Cape Town, 2022, pp. 1–5.
#O autor agradece as valiosas contribuições técnicas do Eng. Fernando Diniz (Engenheiro de Linhas de Transmissão da área de Expansão da Argo Energia) e do Eng. João Drumond (Engenheiro de Linhas de Transmissão da área de Projetos do Grupo EnerMais) e à revisão técnica do texto realizada pela Dra. Naiara Duarte (Professora Visitante do CEFET-MG).




Um dos pioneiros no estudo do arco elétrico no Brasil, o engenheiro eletricista com mais de 44 anos de experiência em proteção e análise de sistemas, Claudio Mardegan, acompanhado de outros dois grandes especialistas no tema: Márcio Bottaro e Filipe Resende, coordenarão, ao longo de 2025, este fascículo, que tem como objetivo tratar da nova Norma de Arco Elétrico, que está em fase final de elaboração na ABNT.



O ponto de partida para um estudo de Energia Incidente é sempre a análise de riscos de arco elétrico em todos os pontos de atuação dos trabalhadores, onde são preponderantes a Severidade e a Probabilidade de Ocorrência. A Norma ABNT NBR 17227 aborda em sua seção 9 a Análise estatística em função da redução da probabilidade da ocorrência de arco elétrico, uma ponderação sobre a estimativa de severidade para que valores realistas de energia incidente possam ser obtidos a fim de se estabelecer as condições de proteção adequadas.
Seguindo as premissas da NFPA 70E: Standard for Electrical Safety in the Workplace [ 1], o document nacional resume o objetivo da análise de riscos de arcos elétricos em três tópicos fundamentais:
1 - Identificação do perigo de arco elétrico nos pontos de atuação dos trabalhadores;
2 - Estimativa da probabilidade de ocorrência de lesão física ou danos à saúde e a severidade potencial associada;
3 - Determinação da necessidade de medidas de proteção adicionais, que podem resultar no uso de EPI apropriado.
Vale salientar que a premissa de lesão física ou danos à saúde é embasada na probabilidade queimaduras de segundo grau na pele, o que está fundamentado no estudo de Alice Stoll [ 2], e considerado, portanto, sobre efeitos de transmissão
de calor por irradiação. É evidente que outros efeitos danosos como emissão chamas e metal fundido, pressão sonora, luz intensa, fumaças tóxicas entre outros fenômenos associados ao arco elétrico, podem e devem ser levados em consideração na análise de riscos, mas devem ser observados os limites de tais efeitos para que não se superestime a severidade no processo, inviabilizando a proteção coletiva e eventuais EPIs.
Esta premissa que é adotada pela NFPA 70E bem como por outros documentos e guias internacionais, como o IEEE 1584 [ 3], atribui um limiar de severidade de 1,2 cal/cm², abaixo do qual, à uma determinada distância de trabalho, não haveria o risco de lesão para o trabalhador. Em função do estudo de Stoll não ter sido realizado com arcos elétricos e sim com emissores de calor por irradiação de maneira isolada (emissores de luz de alta intensidade), a discussão sobre a pertinência desse limiar ainda é objeto de dúvidas de muitos engenheiros e pesquisadores na área.
Um fator importante quando estabelecidos os limites de aproximação é a análise de riscos sobre a pertinência do uso da proteção individual para quem está nas proximidades da atividade, seja no monitoramento, supervisão ou acompanhamento dos trabalhadores que efetivamente estão realizando operações nos pontos de interesse.
CENÁRIOS E SUGESTÕES DE ANÁLISE DE PROBABILIDADE
Como abordado anteriormente, a Severidade é determinada
pelo cálculo de energia incidente dentro das diversas metodologias sugeridas pela norma Nacional. No entanto, é necessário ponderar a probabilidade de ocorrência para que cenários realistas de programas de proteção possam ser desenvolvidos.
A norma brasileira traz a tabela 13, uma adaptação da tabela 130.5 (c) da NFPA 70E, que ilustra cenários de equipamentos elétricos em correntes alternada e contínua, e a probabilidade de ocorrência de arcos elétricos. É uma análise qualitativa variando entre condições de não ocorrência, baixa e alta probabilidade. Essa análise sistemática vai ponderar a severidade e obviamente orientar para os cuidados e implementação de medidas adicionais de proteção em cada caso.
A norma brasileira ainda coloca condições fundamentais de análise para redução da probabilidade de ocorrência e severidade, que envolvem fundamentalmente:
• A concepção do equipamento elétrico;
• Condições de operação e manutenção do equipamento elétrico;
• Experiência e familiaridade do trabalhador com a atividade e o equipamento.
A ABNT NBR 17227 não tem por objetivo detalhar os procedimentos, mas fornecer as informações essenciais para orientar um trabalho de análise estatística que além de melhorar a análise de riscos, auxilia na mitigação dos efeitos danosos dos arcos elétricos.
A redução de probabilidade de ocorrência por meio de medidas técnicas na programação da proteção e também no projeto de equipamentos e instalações elétricas é um dos fatores mais relevantes na redução de acidentes. Problemas relacionados a equipamentos muito antigos ou mesmo com deficiências de manutenção podem ser entendidos como um dos principais fatores de acidentes com arcos elétricos, onde inclusive sistemas de proteção podem simplesmente não atuar.
Recursos como espaçamento entre condutores podem ser determinantes e inclusive ser avaliados quantitativamente quanto a redução da probabilidade de ocorrência de arcos elétricos, o que também pode ser alcançado com o emprego de barramentos isolados, limitando as condições de falha por contato e expansão do arco elétrico. O maior espaçamento reflete diretamente na maior resistência de arco elétrico e consequentemente, a depender das tensões de operação, pode ser determinante na redução da probabilidade de ocorrência.
Outro ponto destacado no texto normativo é o tipo de aterramento. A maior parte dos acidentes com arcos elétricos no ambiente industrial ocorrem inicialmente entre fase e terra, evoluindo rapidamente para arcos entre as fases. Evidentemente que para os arcos entre fase e terra, quando trabalhamos com resistências mais elevadas de aterramento, a probabilidade de ocorrência é drasticamente reduzida, fazendo com que o processo cesse em seu início e impedindo sua evolução. Aqui, da mesma forma, a ponderação entre
NFPA Standard for Electrical Safety in the Workplace, NFPA 70E, 2024.
A. M. Stoll and M. A. Chianta, 1970, “Heat Transfer Through Fabrics as Related to Thermal Injury,” Ann. N. Y. Acad. Sci., Vol. 33, pp. 649-670.
IEEE Guide for performing Arc-Flash hazard calculations, IEEE 1584, 2018.
J. P. Nelson, J. Billman, J. Bowen and D. Martindale, "The Effects of System Grounding, Bus Insulation and Probability on Arc Flash Hazard Reduction - Part 2: Testing," 2014 IEEE Petroleum and Chemical Industry Technical Conference (PCIC), San Francisco, CA, USA, 2014, pp. 29-43.






Exemplo de análise de estudo de probabilidade (*baseado na NFPA 70E)
Atividade
Leitura de medidor em painel (sem intervenção do operador)
Realização de termografia ou outro tipo de inspeção sem contato fora do LAS (sem abertura de portas ou tampas)
Inspeção visual de cabo isolado sem a manipulação deste
Intervenção em circuitos de controle com condutores e partes expostas c.a. ou c.c. (inclui a abertura de portas ou tampas)
Intervenção em condutores elétricos e partes condutoras energizados em sistemas c.a. (incluindo ensaios)
Intervenção em condutores elétricos e partes condutoras energizados diretamente alimentados por painel de distribuição ou centro de comando de motores
Intervenção em condutores elétricos e partes condutoras energizados de células de baterias conectadas em série (incluindo ensaios)
Intervenção em condutores elétricos e partes condutoras energizados de equipamento de utilização diretamente alimentado por fonte c.c.
Inserção ou remoção de tampas para conectores entre células de baterias
Abertura de portas ou tampas para acesso a condutores elétricos e partes condutoras energizadas, incluindo terminais de baterias
Abertura de compartimentos de transformador de potencial
Medição individual de tensão de células de bateria ou bancos de baterias
Remoção de tampas de conectores entre células de baterias
Instalação ou remoção de disjuntor ou chave seccionadora
Operação de disjuntor ou chave seccionadora pela primeira vez após instalação ou finalização da manutenção do equipamento
Manobra local de disjuntores ou outro dispositivo de seccionamento
Execução de teste de constatação de ausência de tensão Instalação de conjunto de aterramento temporário após execução de teste de constatação de ausência de tensão
Inserção ou remoção de gavetas de centros de comando de motores (CCM)
Inserção ou remoção de disjuntores em cubículos com portas abertas ou fechadas
Inserção ou remoção de dispositivos plug-in ou de barramentos
Inserção ou remoção de medidores de energia em tensão primária
Exame de cabo isolado com a manipulação deste
Abertura de tampa, inspeção e medição de circuitos secundários de transformadores de corrente
Operação remota de chave externa de desconexão de 1 kV a 15 kV
Operação remota de disjuntor, contator ou dispositivo de partida
Instalação ou remoção de tampas de equipamentos e/ou abertura de portas que não exponham condutores elétricos e partes condutoras energizados
os benefícios dessa impedância adicional de aterramento, por exemplo de neutro, deve ser levada em conta e analisado o sistema como um todo para estudo dos impactos operacionais e de segurança contra choques elétricos [ 4].
Ajuste nas configurações de tempos de proteção também são considerados brevemente na norma brasileira e são desafios importantes no intuito de redução da severidade dos arcos elétricos. Tais ajustes são desafiadores principalmente com
Condição do equipamento
Qualquer

Qualquer
Possibilidade
Qualquer
Qualquer
Qualquer
Normal
relação a manutenção do sistema elétrico sem desligamentos não programados. O conhecimento sobre os dispositivos de proteção e sua correta configuração é fundamental para o sucesso na mitigação dos riscos de arcos elétricos, e por isso a indicação desse procedimento é destacada na norma brasileira, mas evidentemente, um aprofundamento nas técnicas operacionais é mandatório, requerendo capacitação e aproximação junto aos fornecedores de equipamentos e acessórios.




O segmento de transmissão é estratégico e condicionante para o desenvolvimento nacional. Neste fascículo, teremos como mentor o Eng. Eletricista Rogério Pereira de Camargo, que é atualmente uma referência nacional no tema. Com MBA em Gestão de Negócios pelo IBMEC, Pós-Graduação em Eng. de Manutenção pela UFRJ, Admin. pela FAAP, cursando Pós-graduação Master em ESG e Gestão Estratégica da Sustentabilidade pela FIA Business School, Rogério Camargo atua desde 1994 como Gestor e Diretor Técnico na implantação e operação e manutenção de projetos de transmissão para investidores nacionais e internacionais.


Por Rogério Pereira de Camargo, Danilo Belpiede¹, Bruno Laurindo²

Os leilões de transmissão são o mecanismo que o governo federal utiliza para atrair investimentos para os empreendimentos que visam à expansão do Sistema Interligado Nacional (SIN), além de garantir a modicidade tarifária. Eles tiveram origem a partir da reestruturação do setor elétrico brasileiro, ocorrida entre o final da década de 1990 e o início dos anos 2000, no chamado Projeto de Reestruturação do Setor Elétrico Brasileiro (Projeto RE-SEB).
Inicialmente, é importante relembrar o histórico que originou a necessidade de mudanças que aceleraram o processo de reestruturação do modelo do setor elétrico brasileiro como conhecemos hoje em dia. No início dos anos 90, o setor elétrico brasileiro vivenciava um cenário de investimentos insuficientes para o crescimento continuado do setor. O Estado possuía uma elevada participação no segmento, formado por empresas verticalizadas e sem existência de competição. As empresas estatais eram responsáveis pela formulação das políticas setoriais e pela expansão do sistema de geração, transmissão e distribuição. No
entanto, devido à alta inflação, instabilidade monetária e escassez de recursos públicos, as empresas estatais eram incapazes de atender às necessidades de investimentos na expansão da oferta de energia elétrica e da infraestrutura de rede.
Diante desse contexto e do momento econômico nacional, o setor elétrico enfrentou momento de estagnação, atingindo o ápice da crise na década de 1990, sendo necessário a implementação de uma reforma para alavancar o setor. Nasce o Projeto RE-SEB, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia (MME), que definiu o arcabouço regulatório e jurídico do novo modelo do setor elétrico a ser implantado a partir daquele momento. Os principais conceitos são: (i) a implementação da desverticalização das empresas de energia elétrica, ou seja, dividi-las nos segmentos de geração, transmissão e distribuição; (ii) o incentivo a competição nos segmentos de geração e comercialização; e (iii) a regulação dos setores de distribuição e transmissão de energia elétrica, considerados como monopólios naturais.




Além disso, estabeleceu as diretrizes para a criação do órgão regulador do setor, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), de um operador para o sistema elétrico nacional, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e de um ambiente para a realização das transações de compra e venda de energia elétrica, o então Mercado Atacadista de Energia Elétrica (MAE), cujo nome foi alterado mais tarde para Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). Posteriormente, foi criada a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), com a finalidade da prestação de serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor energético.
As propostas do RE-SEB previam um modelo regulatório de características divergentes daqueles que estavam em vigor. Na prática, o governo diminuiria seu papel como agente setorial, através do fim do monopólio estatal, para assumir uma função de regulador e indutor de investimentos, com a expansão do sistema através de leilões e a abertura para investimentos privados. Assim, os leilões tornaram-se o mecanismo competitivo escolhido para licitar os empreendimentos.
Nesse novo modelo, o planejamento da expansão do sistema de transmissão no Brasil passou a ser realizado de forma centralizada e técnica pela EPE, vinculada ao MME, em horizontes de médio e longo prazo, com vistas a assegurar a continuidade, a qualidade e a confiabilidade do SIN.
O processo de planejamento da expansão do sistema de transmissão inicia-se com a identificação de necessidades estruturais do SIN, considerando o atendimento da demanda e seu crescimento no período de análise, a inserção de novas fontes de geração, a modernização tecnológica e os requisitos de confiabilidade. A partir dessa análise, são realizados estudos técnicos detalhados, baseados em simulações elétricas, avaliação de custos e aspectos socioambientais, que resultam na definição de um conjunto de obras necessárias para a expansão do sistema, de modo a garantir a segurança e qualidade do SIN ao menor custo global, contemplando, inclusive, as perdas elétricas. Cabe destacar que o processo de planejamento da transmissão é conduzido de forma transparente e com ampla divulgação, em estreita articulação com o MME, a ANEEL e o ONS.
Esse processo garante uma abordagem integrada, promovendo benefícios para a sociedade ao direcionar de maneira eficiente os investimentos necessários. O objetivo também é garantir que a expansão da rede elétrica ocorra de maneira coordenada e alinhada às necessidades sistêmicas. Após a consolidação das obras, segue-se o rito das outorgas, através de leilões de transmissão ou autorizações, de maneira alinhada ao planejamento previamente elaborado. A fim de atender ao planejamento da expansão do setor elétrico, são realizados, ano a ano, leilões de transmissão, na modalidade de licitação pública.
Conforme as diretrizes do MME, a ANEEL é a responsável por organizar os leilões de transmissão para a contratação das novas concessões para a prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica. O prazo estabelecido para esse tipo de outorga é de 30 anos a partir da assinatura do contrato de concessão. Durante os leilões de transmissão os proponentes disputam lotes compostos por uma ou mais obras, em que o vencedor da disputa de um lote é o proponente que oferece a menor Receita Anual Permitida (RAP) para a implantação, operação e manutenção daquele lote a partir da entrada em operação comercial até o fim do período de concessão. A RAP é indexada ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), já a partir da assinatura do contrato de concessão. Desde o primeiro leilão em 1999 até o último leilão de 2024, estima-se um investimento total de R$ 415,43 bilhões. A seguir, observamos um recorte dos últimos 10 anos dos investimentos e deságios dos leilões até 2024.

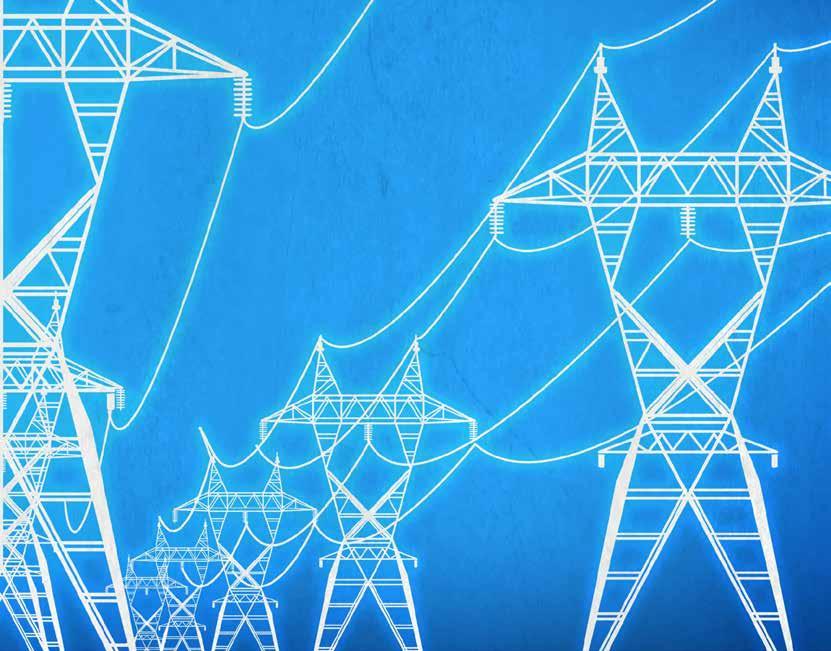




O primeiro leilão de transmissão no Brasil ocorreu em 03 de dezembro de 1999 para a implantação, operação e manutenção da Linha de Transmissão em 440 kV Taquaruçu – Assis – Sumaré, com um total de 505 quilômetros de extensão, instalada no Estado de São Paulo. Na época, o deságio vencedor foi de 8,02% em relação ao preço-teto definido no edital de licitação. De lá para cá, a ANEEL foi aperfeiçoando as regras do modelo de licitação pública, incluindo características que trouxeram maior segurança aos investidores e a garantia da execução das obras nos prazos máximos estabelecidos. Indiretamente, esses ajustes permitem também o aumento da concorrência entre os proponentes. No último leilão de transmissão de 2024, por exemplo, o deságio médio dos lotes ofertados ficou em 40,78%.
No gráfico abaixo, observamos o deságio médio em cada leilão na última década, onde se nota um sensível crescimento no deságio médio a partir do ano de 2015, sendo também um aumento na quantidade dos lotes ofertados.

Fonte: ANEEL.gov.br
Nesse contexto financeiro, vale estender o tema sobre a RAP, a qual é o principal instrumento de remuneração das transmissoras, definida pela ANEEL com base em modelos regulatórios, que consideram investimentos, custos operacionais e retorno adequado sobre o capital. A RAP corresponde à receita máxima que a transmissora pode receber anualmente pela disponibilidade de seus ativos, independentemente do fluxo de energia elétrica que efetivamente transite pelas instalações.
Em seu cálculo, para os leilões, são considerados, por exemplo, o investimento de capital (CAPEX), que são os custos de implantação das linhas, subestações e seus equipamentos; custos operacionais e de manutenção (OPEX), estes, que são estimativas de despesas ao longo da vida útil da concessão; a depreciação e reposição de ativos, dois fatores que devem assegurar a sustentabilidade da prestação do serviço de transmissão; o Custo Médio Ponderado de Capital –regulatório, definido pela ANEEL – (CAPM ou WACC, em inglês) e a remuneração do capital investido, que garante uma taxa de retorno compatível ao risco do empreendimento.
Como estrutura geral do cálculo da RAP de maneira simplificada, podemos representar da seguinte forma:
RAP=(RAB x WACC) + OPEX COT + DEPRECIAÇÃO - RECEITAS ALTERNATIVAS
Onde:
RAB = Base de Remuneração Regulatória (ativos prudentes reconhecidos).
WACC = Custo Médio Ponderado de Capital (regulatório, definido pela ANEEL).
OPEX = Custos Operacionais de O&M.
COT = Custos de Operação e Tributos (administrativos, seguros, taxas, encargos).
Depreciação = quota anual sobre ativos, garantindo reposição futura.
Receitas Alternativas = receitas adicionais (ex.: aluguel de fibra óptica em linhas de transmissão), que são abatidas da RAP.
Abrindo termo-a-termo, temos:
- Base de Remuneração Regulatória (RAB) - A RAB é calculada a partir do valor contábil dos ativos, considerando:
RAB=Ativos Brutos-Depreciação Acumulada
- Remuneração do Capital - A remuneração do capital investido é dada por:
Remuneração=RAB-WACC
O WACC regulatório é definido pela ANEEL em revisões periódicas, levando em conta:
• Estrutura de capital (dívida/próprio).
• Custo da dívida (líquido de impostos)
• Custo de capital próprio (modelo CAPM).
• Inflação esperada.
- Depreciação - É calculada sobre a vida útil regulatória dos ativos:
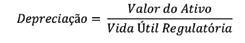
- Custos Operacionais (OPEX) - Incluem despesas com operação, manutenção, pessoal, contratos terceirizados, seguros e tributos.
A ANEEL adota benchmarks e parâmetros regulatórios para definir OPEX eficiente.
OBS.: Atualizações da RAP
• Anualmente: corrigida por índice inflacionário (IGP-M ou IPCA, conforme contrato).
• Revisões Periódicas: recalculada com nova RAB, OPEX e WACC.
• Revisões Extraordinárias: em casos de mudanças relevantes (ex.: reforços, indenizações, MRE).
Voltando um pouco para abordar mais as questões que envolvem
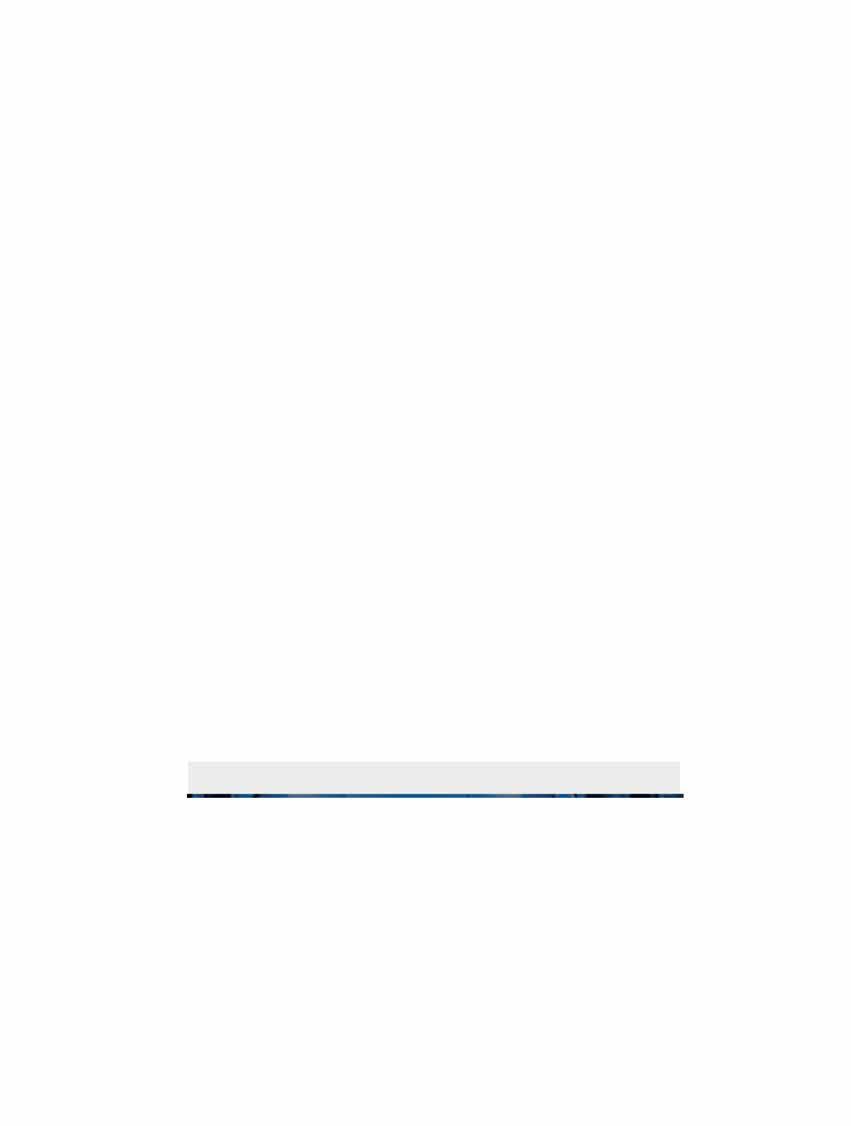
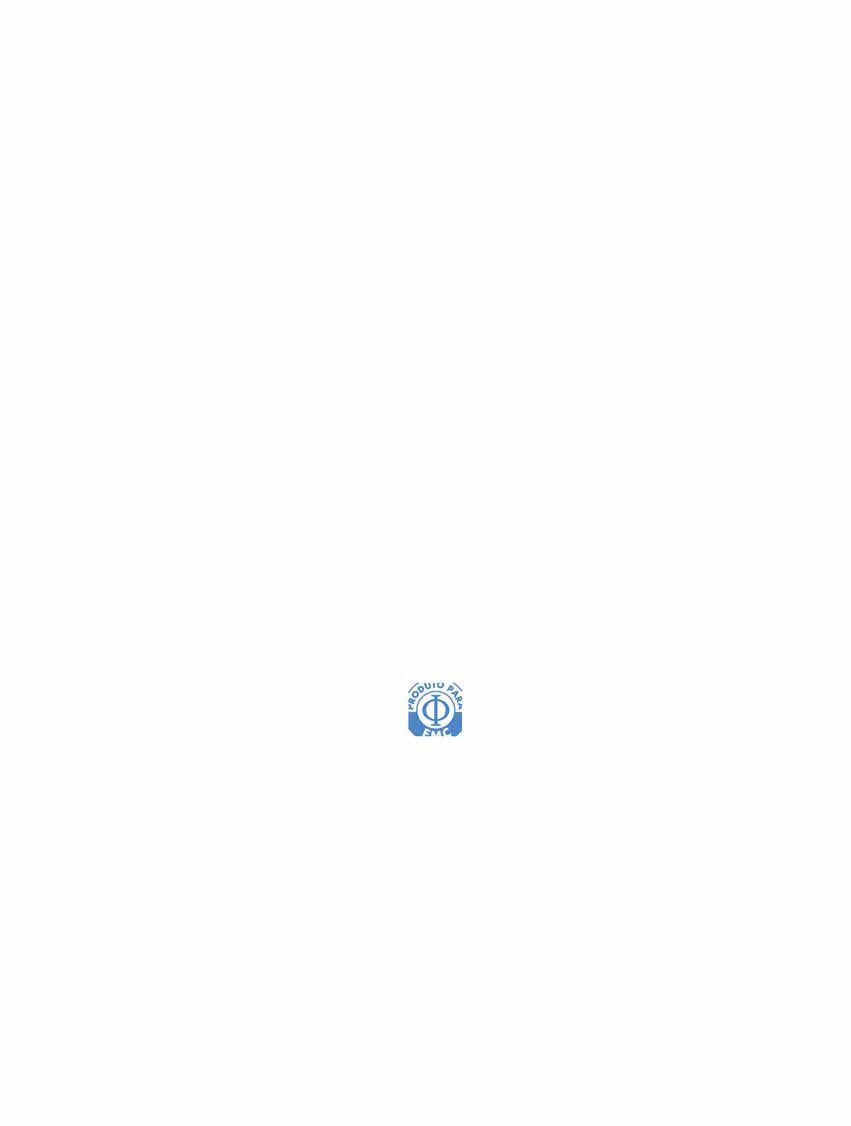
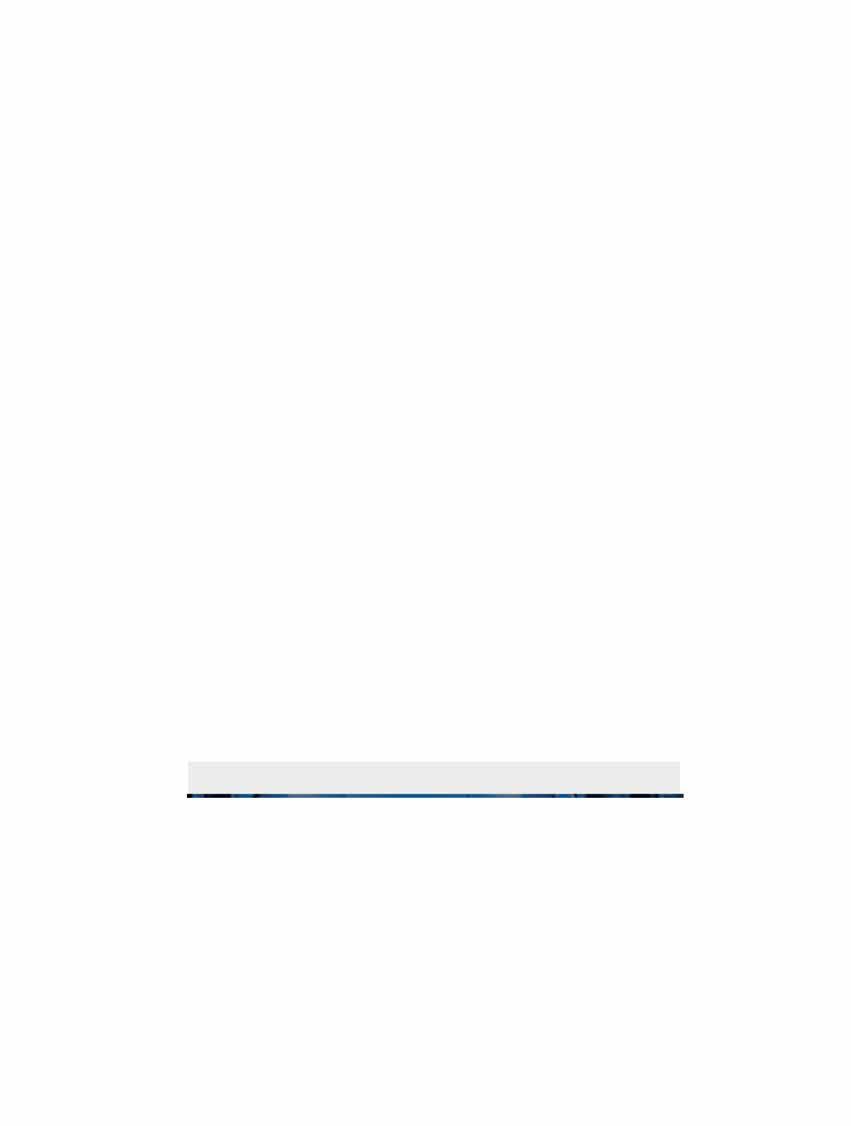
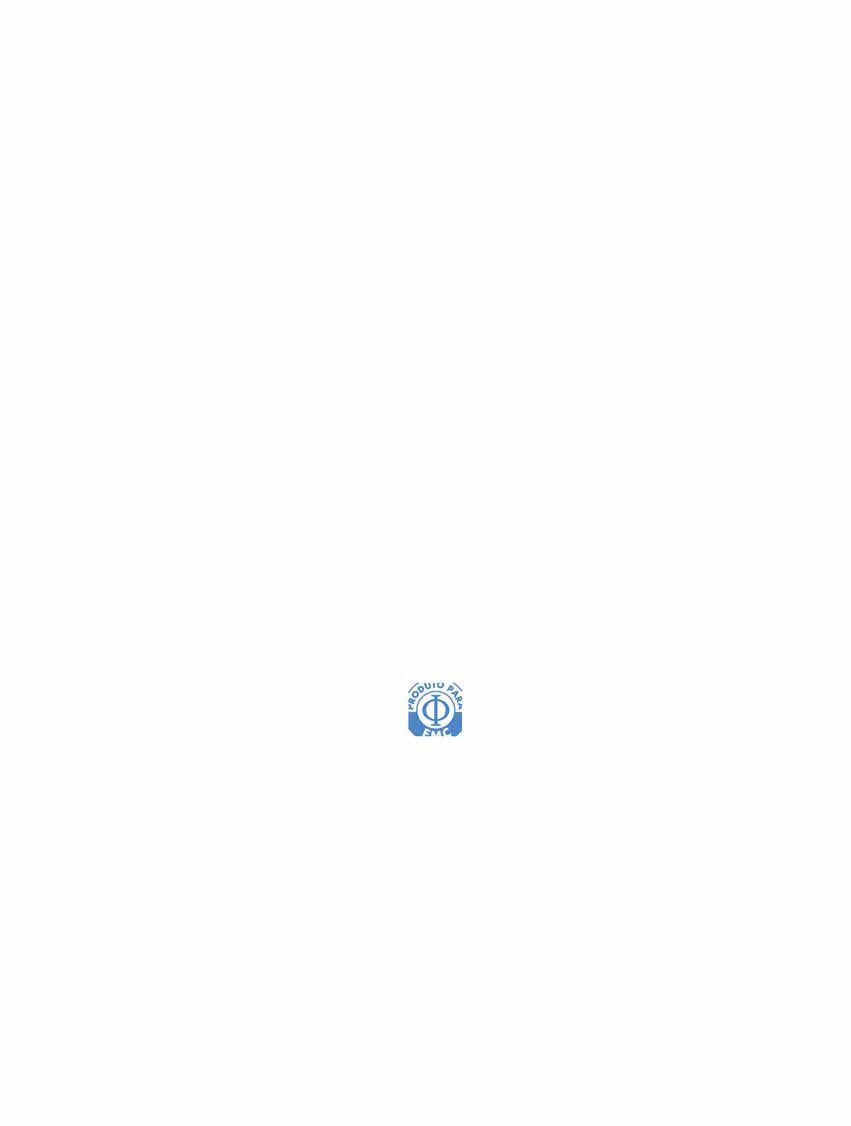




o WACC, um dos pilares do cálculo da RAP e, ao mesmo tempo, um dos temas mais discutidos em regulação porque define a taxa de retorno que a transmissora pode ganhar sobre seu capital investido.
O WACC (Weighted Average Cost of Capital) representa o custo médio que a empresa tem para financiar seus ativos, ponderando justamente o capital próprio e o capital de terceiros. Na prática. É taxa de retorno mínima que um investidor exige para aplicar recursos no setor de transmissão, dado o risco do negócio. Assim temos:

Onde:
E = Capital Próprio (Equity).
D = Dívida (Debt).
K e = Custo de Capital Próprio.
Kd = Custo da Dívida (juros médios).
T = Alíquota efetiva de imposto de renda.
D+E = Estrutura de Capital regulatória.
O WACC no setor de transmissão, no caso dos leilões da ANEEL, é regulatório, ou seja, não é um fator individual de cada empresa, mas sim um valor padronizado definido pela Agência, que considera, conforme citado anteriormente:
- A estrutura de capital regulatória - como uma alavancagem alvo, ex.: 65% dívida / 35% equity).
- Custo da dívida (Kd) - que é calculado a partir da média de taxas praticadas no mercado (debêntures de infraestrutura, BNDES, TJLP, IPCA+ etc.).
- Custo do capital próprio (Ke) - definido via modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model):
K e = Rf + β x(Rm- Rf )
Onde:
Rf = taxa livre de risco (ex.: NTN-B longa, título do Tesouro).
β (Beta) = medida do risco do setor de transmissão frente ao mercado. (Rm - Rf) = prêmio de risco de mercado.
Portanto, o WACC é um ponto central, para as questões da RAP pois é ela que define a atratividade do setor, ou seja, um WACC baixo reduz a RAP e pressiona margens, por outro lado ela barateia a tarifa final para o consumidor. Ela também é responsável por sinalizar o risco regulatório, pois se está muito abaixo da realidade de mercado, pode afastar investidores. E por último, porém não menos importante, o WACC dá previsibilidade uma vez que é prédeterminado e aplicado para todos, reduz disputas jurídicas e assegura um modelo competitivo e transparente nos leilões. É uma taxa de retorno “justa”, constituída de premissas macroeconômicas
financeiras, que busca equilibrar a segurança ao investidor e a modicidade tarifária ao consumidor.
Em síntese, a RAP é projetada para assegurar o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, cobrindo O&M, garantindo a remuneração do capital e permitindo a reposição de ativos ao longo da concessão. Com a credibilidade oferecida por essa metodologia, os leilões de transmissão se consolidaram ao longo do tempo.
Já são 25 anos de existência dos leilões de transmissão no Brasil. Ao todo, foram realizados 58 certames, ofertando mais de 120 mil quilômetros de linhas de transmissão e 260 mil MVA de capacidade de transformação.
O principal documento dos leilões de transmissão é o edital de licitação. Ele reúne todas as regras para a participação no certame, as condições de contratação do serviço público de transmissão e as informações e requisitos técnicos de cada empreendimento a ser licitado.
E quem pode participar? Segundo o edital do último leilão de transmissão de 2024, podem participar dos leilões de transmissão, como proponentes: i) pessoa jurídica de direito público ou privado, nacional ou estrangeira, e Fundo de Investimento em Participações (FIP), isoladamente ou reunidos em consórcio; ou ii) entidade de previdência complementar, reunida em consórcio com FIP e/ou outra entidade de previdência complementar, desde que o consórcio conte com a participação de uma ou mais pessoas jurídicas de direito privado que não se caracterizem como FIP nem como entidade de previdência complementar. Existem também regras que impedem a participação de algumas empresas, por exemplo: i) as concessionárias ou permissionárias de distribuição de energia elétrica; ii) a sociedade e/ou sua controladora que se encontre em recuperação judicial ou extrajudicial, ou que estejam sob intervenção, ou ainda que esteja sob efeitos de penalidade de suspensão do direito de participar de licitações e de contratar com a ANEEL ou com a administração pública; iii) outros detalhes para a segurança do processo de licitação pública. As empresas interessadas em participar do leilão de transmissão deverão realizar a inscrição e aportar a garantia de proposta, dentro dos prazos definidos pelo edital.
Essa garantia é de 1% (um por cento) do valor do investimento estabelecido pela ANEEL para cada lote, podendo ser apresentada sob a modalidade de seguro-garantia ou fiança bancária (mais usuais) ou ainda por meio de títulos da dívida pública, títulos de capitalização ou caução em dinheiro. A garantia de proposta visa assegurar a participação do proponente inscrito e da proposta apresentada no leilão de forma a cobrir eventuais prejuízos em caso de não cumprimento das condições do edital até a assinatura do contrato de concessão pelo vencedor. Assim, caso o proponente vencedor de um lote não apresente os documentos de habilitação, a garantia de fiel cumprimento ou se recuse a assinar o contrato de concessão, a garantia de proposta poderá ser executada.
Após a sessão pública do leilão de transmissão, os vencedores de cada lote passam por um processo de habilitação jurídica,




técnica, econômico-financeira e fiscal-trabalhista. Em seguida, deve ser apresentada a garantia de fiel cumprimento, em substituição à garantia de proposta, que pode variar entre 5% (cinco por cento) e 10% (dez por cento) do valor do investimento da ANEEL, a depender do nível do deságio vencedor dado para o lote. Essa garantia tem por objetivo assegurar o cumprimento das obrigações relativas à construção do empreendimento. Por fim, a ANEEL realiza a adjudicação dos lotes aos proponentes vencedores e autoriza a assinatura dos contratos de concessão, dando início ao processo de acompanhamento da implantação até a entrada em operação comercial dos empreendimentos.
Os leilões de transmissão se consolidaram, ao longo de 25 anos, como um instrumento eficaz de expansão do sistema elétrico brasileiro, garantindo investimentos contínuos e trazendo maior confiabilidade ao SIN. A evolução das regras e a maturidade regulatória da ANEEL permitiram maior segurança jurídica, previsibilidade de receitas e a concorrência saudável entre os agentes, fatores que se refletem em deságios significativos e na redução tarifária ao consumidor (essa “redução” pode ser um bom papo para um outro artigo). Entretanto, a sustentabilidade desse modelo exige constante atenção.
A calibragem do WACC regulatório, a definição precisa da RAP e a transparência nos processos de planejamento e licitação são elementos fundamentais para manter o equilíbrio entre atratividade aos investidores e a modicidade tarifária. Além disso, desafios como a integração de novas fontes renováveis, a modernização tecnológica e a crescente complexidade socioambiental demandam um processo cada vez mais robusto e eficiente.
Um ponto de melhoria e sugestão para os editais dos leilões de transmissão é olhar para o segmento para além do investidor, levando em consideração o ecossistema que envolve estes projetos, como por exemplo, uma melhor sinergia e interface com os órgãos de licenciamento ambiental, fase importante e relevante dentro da implantação dos projetos e uma análise crítica dos aspectos de saúde e segurança do trabalho na fase de implantação, garantindo que os mesmos, sejam implantados dentro dos prazos regulatórios, porém cumprindo todos os requisitos de saúde e segurança do trabalho, impondo restrições para investidores e fornecedores que tiverem durante a implantação dos projetos, ocorrências de acidentes fatais ou incapacitantes.
Em síntese, os leilões de transmissão seguem cumprindo papel central na política energética nacional, combinando expansão da infraestrutura, segurança elétrica e competitividade econômica. O futuro do setor dependerá da manutenção desse equilíbrio delicado entre remuneração justa e tarifas acessíveis, assegurando que o modelo continue sendo referência internacional em regulação e leilões de infraestrutura.
Continuem acompanhando o tema em nosso próximo fascículo. Até a próxima!
1 Danilo Belpiede é Executivo com mais de 20 anos de experiência no setor elétrico brasileiro, com trajetória consolidada em empresas de transmissão e atuação estratégica em regulação técnico-econômica, gestão de ativos e expansão de infraestrutura. Ao longo da carreira, liderou projetos de alto impacto em operação, manutenção, implantação de obras, planejamento da expansão, leilões de transmissão e programas de PD&I. Possui mestrado e graduação em engenharia elétrica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas.
2 Bruno de Mello Laurindo é Engenheiro Eletricista formado pela UFRJ com Mestrado em Engenharia Elétrica pela UFF e MBA em Gestão de Negócios pela USP com foco em estudos de OPEX e CAPEX dos leilões de transmissão da ANEEL. Experiência consolidada no setor de transmissão de energia há 8 anos, atuando atualmente na Coordenação de Engenharia e Operação & Manutenção (O&M).
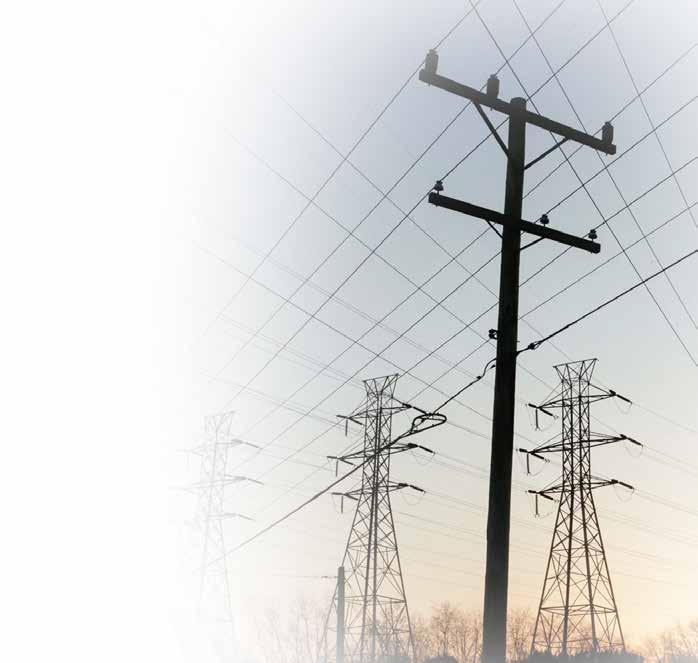




Ao longo do ano, este fascículo reunirá uma coletânea dos melhores artigos apresentados durante o Congresso de Inovação na Distribuição de Energia - CIDE, realizado pelo Grupo O Setor Elétrico, em Parceria com a Abradee, no Transamerica Expo Center, em São Paulo, entre os dais 5 e 6 de junho de 2024.
Detecção de ligações não cadastradas empregando visão computacional em imagens de satélite
1. Antônio Mário Kaminski Júnior, Fox IoT
2.Otacílio de Oliveira Carneiro Filho, CELESC
3.Filipe Gabriel Carloto, Fox IoT
4.Alan Jaques Krindges, Fox IoT
5.Vinícius Jacques Garcia, UFSM
6.Carlos Henrique Barriquello, UFSM
As Perdas Não Técnicas (PNT) são um desafio considerável no setor elétrico, com impactos técnicos e financeiros significativos para as concessionárias, afetando diretamente os consumidores e refletindo em suas faturas. A redução das PNTs é um objetivo estabelecido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) (ANEEL, 2021). Detectar essas perdas é uma tarefa complexa devido à sua variedade de manifestações, exigindo esforços técnicos e logísticos. As principais formas de PNTs incluem a manipulação indevida de medidores, inconsistências ou erros de cadastro e conexões não cadastradas pela concessionária na rede elétrica. Embora diversas abordagens tenham surgido para detectar irregularidades nos medidores, a identificação de conexões não cadastradas ainda depende principalmente de inspeções em campo e denúncias. Uma abordagem promissora para lidar com conexões não registradas e inconsistências cadastrais de consumidores é o uso de técnicas de visão computacional para detectar telhados de construções (JACQUES et al., 2021), comparando-os com a infraestrutura da rede de distribuição. Nesse contexto, uma ferramenta está sendo desenvolvida em colaboração entre a concessionária CELESC, a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e a empresa Fox IoT. Essa ferramenta utiliza visão computacional para detectar construções por meio de imagens de satélite e confrontá-las com o cadastro de
Unidades Consumidoras (UCs) da concessionária, a fim de identificar possíveis conexões não cadastradas por meio de um método de atribuição. Baseando-se apenas em coordenadas geográficas para identificação, a metodologia proposta considera a discrepância entre o número de construções na região e o número de UCs cadastradas.
2 -OBJETIVO
O principal objetivo deste trabalho é propor uma nova metodologia para a detecção de ligações não cadastradas, utilizando visão computacional aplicada a imagens de satélite, e estabelecer a relação entre as construções identificadas e as Unidades Consumidoras (UCs). Este estudo busca descrever as etapas dessa metodologia, incluindo a detecção de construções e o processo de atribuição entre construções e UCs. Além disso, busca validar a eficácia da metodologia realizando simulações empregando pontos simulados e dados reais.
3 - DIAGNÓSTICO: PROBLEMA ENFRENTADO
As PNTs no sistema de distribuição de energia decorrem principalmente de irregularidades como a manipulação indevida de medidores, inconsistências cadastrais e conexões não registradas, causando sérios impactos nos consumidores e no sistema (PEREIRA,



2019). Detectar essas perdas é complexo devido ao cálculo baseado em estimativas e às limitações das inspeções locais (PEREIRA, 2019). Para enfrentar esse desafio, as concessionárias implementam programas de inspeções, substituição de medidores e políticas comerciais. Avanços recentes em Inteligência Artificial (IA) têm possibilitado a detecção de PNTs, especialmente de irregularidades em medidores (EVALDT, 2014), mas a precisão ainda é um desafio. Soluções incluem o uso de drones (BASAK et al., 2019) e visão computacional (JACQUES et al., 2021), com expectativa de melhorias à medida que evoluem os algoritmos de IA e as imagens de satélite.
4 - METODOLOGIA/MÉTODO PROPOSTO
A metodologia proposta para detecção de ligações não cadastradas é esquematizada na Figura 1. Dividida em etapas, requer apenas duas entradas: uma imagem de satélite RGB da região de interesse e as coordenadas geográficas das Unidades Consumidoras (UCs) que abrangem essa região. As UCs são filtradas para corresponder à área da imagem.

A partir da imagem, um modelo de visão computacional detecta as construções, retornando uma máscara indicando os pixels que representam construções e os que não, conforme Figura 2. Os centroides das construções individuais são então calculados, conforme demonstrado na Figura 3, com as posições das UCs na mesma região.




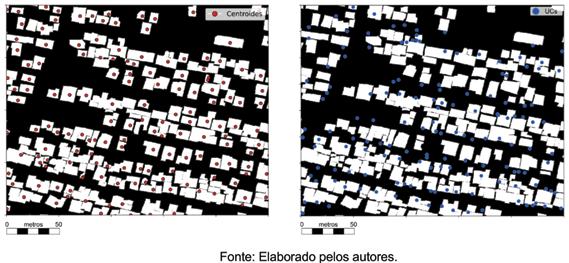
Assim, obtém-se dois conjuntos de coordenadas geográficas: UCs e centroides de construções. Para identificar possíveis ligações não cadastradas, é aplicada uma metodologia de atribuição, como proposto em Kaminski et al. (2023). A metodologia de atribuição visa determinar quais centroides de construções estão vinculados a quais UCs. Basicamente, o excesso de construções é indicado como uma ligação não cadastrada. Os conjuntos de centroides de construções e UCs são representados por X e Y, respectivamente, onde X contém n elementos e Y contém m elementos onde n≥m, garantindo que ligações não cadastradas sejam detectadas.
Em seguida, é calculado um peso entre 0 e 1 para cada par de pontos, indicando a probabilidade de conexão. Este peso pode ser determinado de diversas maneiras, como a distância entre os pontos. Uma Rede Neural Artificial (RNA) denominada Feed-Forward Neural Network (FFNN) é utilizada para classificar os pesos de conexão, considerando não apenas a distância, mas também a disposição dos pontos. Os pesos são calculados entre todos os pontos de diferentes conjuntos, resultando na matriz P de tamanho n×m.
Com base nos pesos, as conexões entre centroides e UCs são estabelecidas, tratando o problema como uma atribuição. Utilizando o Método Húngaro (KUHN, 1955), obtém-se uma matriz C de tamanho n×m de valores binários indicando quais UCs estão atribuídas a quais construções. Se uma linha da matriz C não estiver conectada a nenhum medidor, sem nenhum valor 1, indica uma construção sem UC, sugerindo uma possível ligação não cadastrada. A função objetivo do problema de atribuição é maximizar a soma dos pesos das conexões (VANDERBEI, 2007). As restrições garantem que cada UC esteja conectada a uma construção e que cada construção esteja conectada a no máximo uma UC.
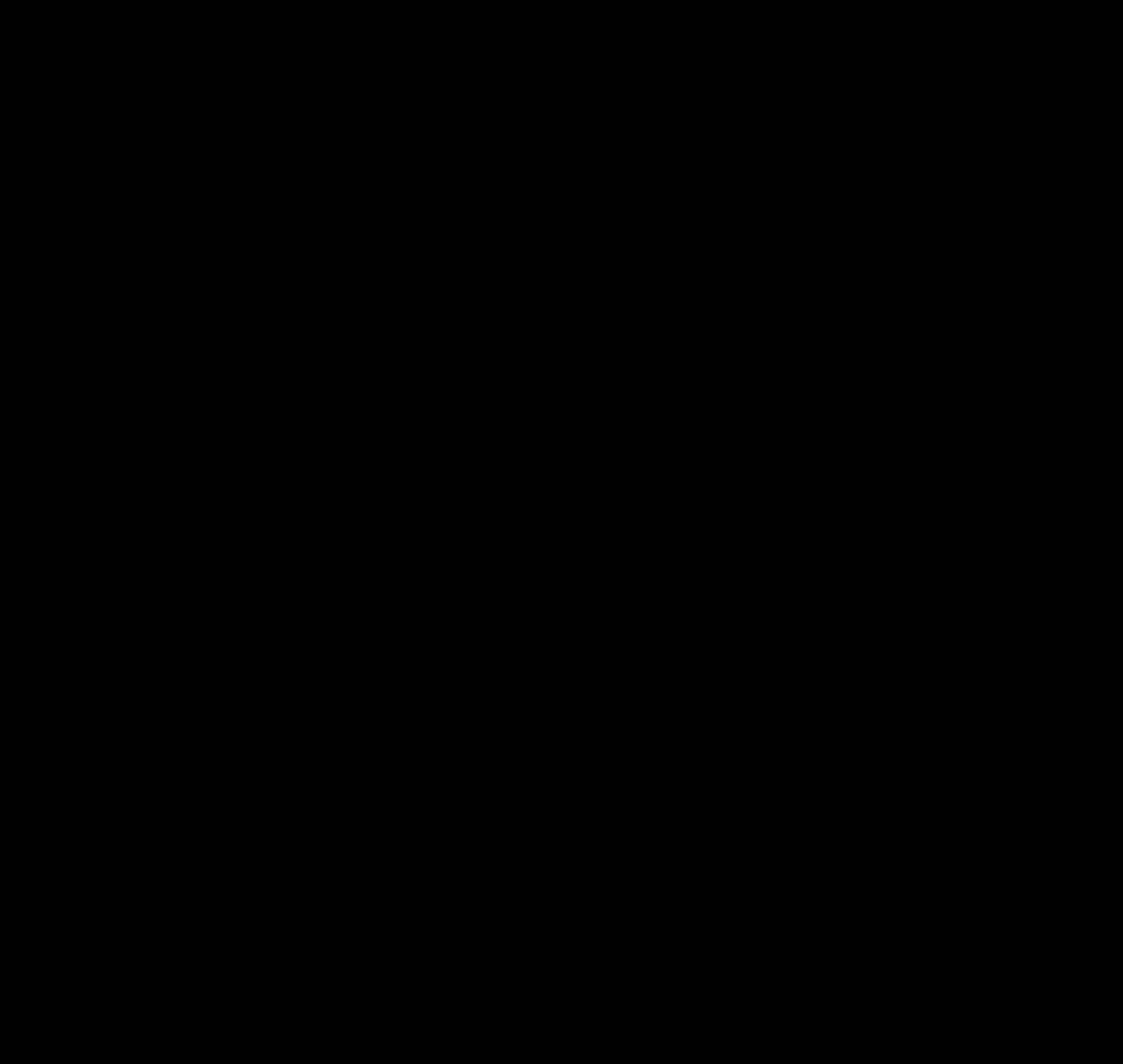
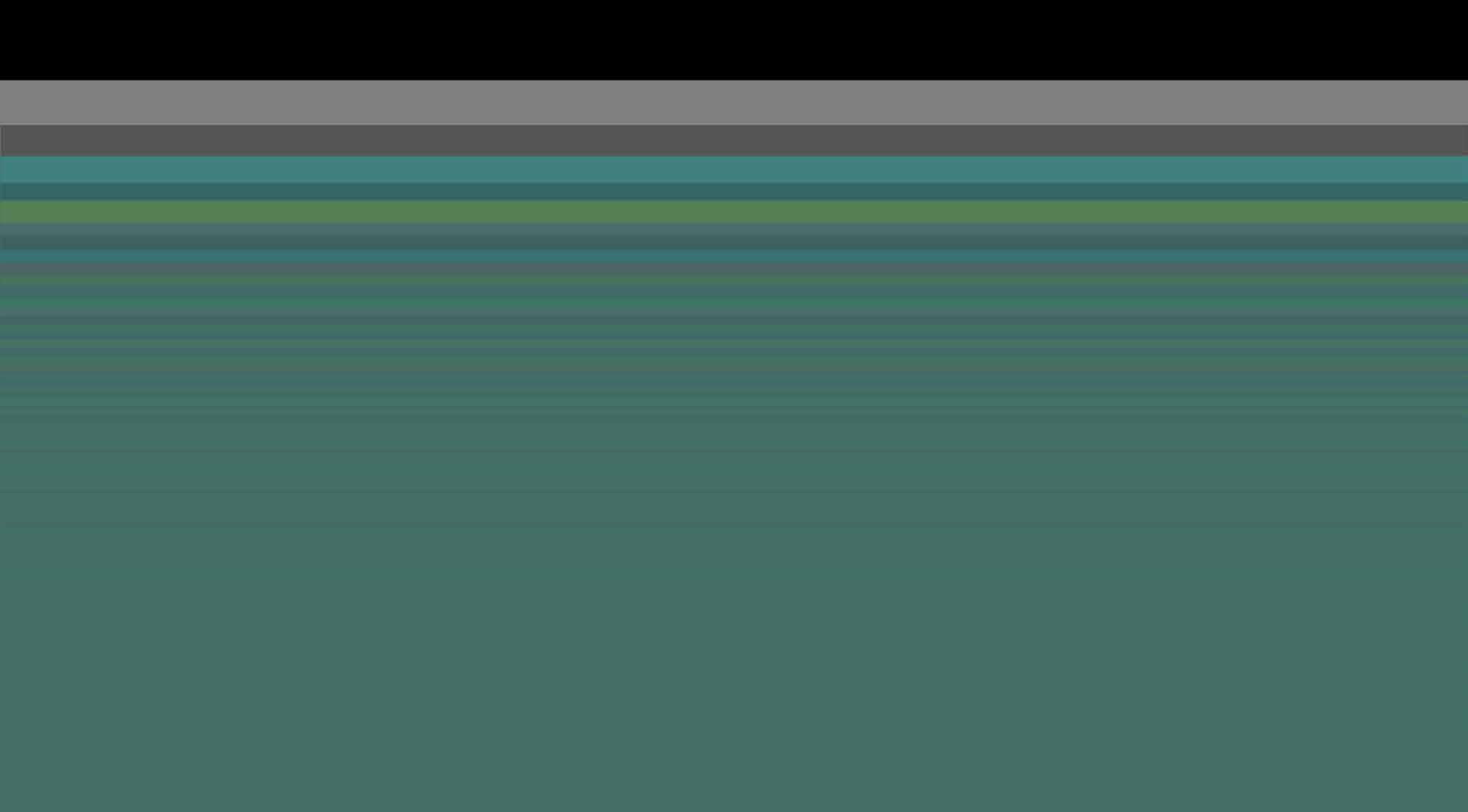
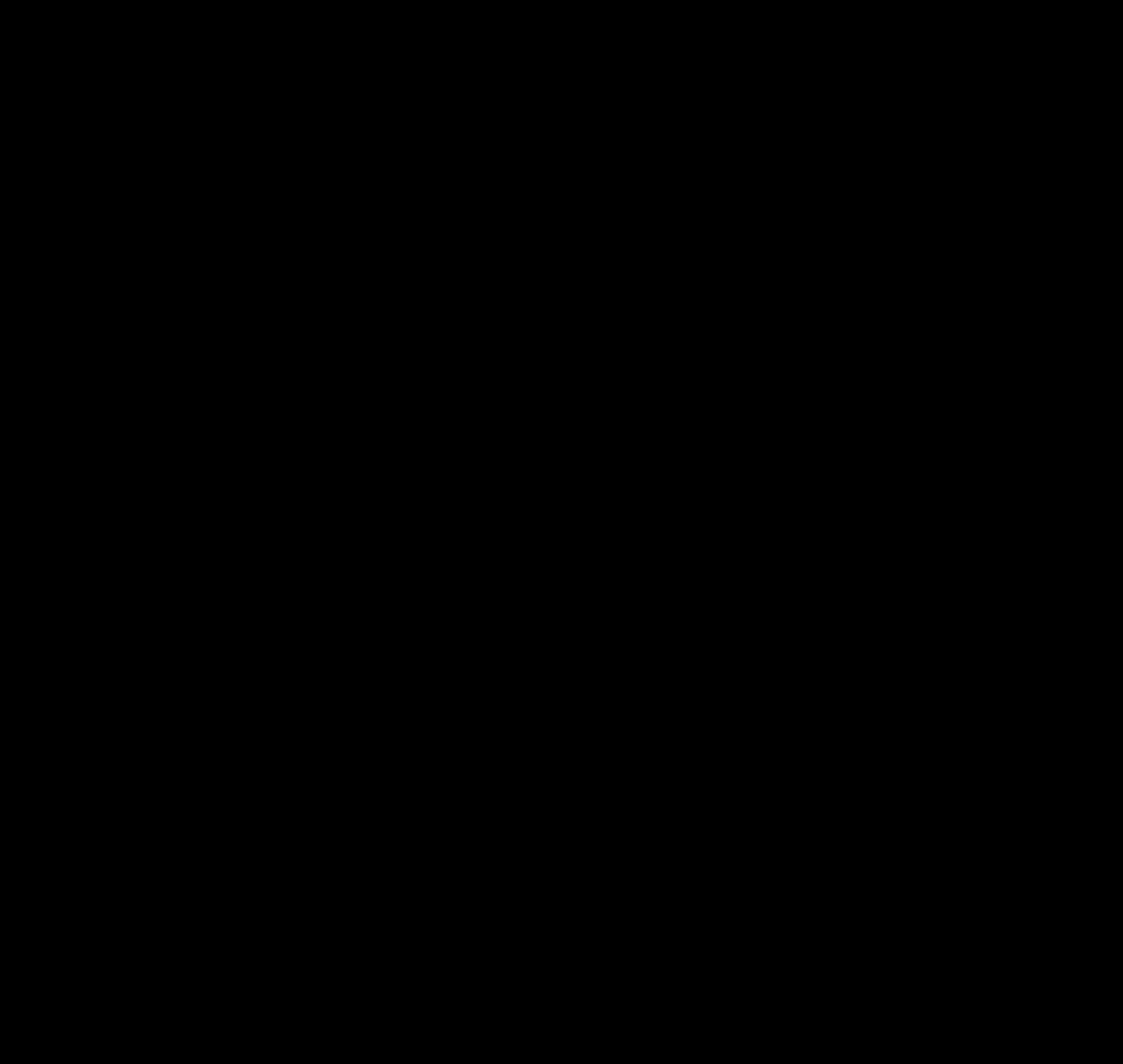



CABINES

G2-SLIM 630A - 17,5KV - 16kA


- 17,5/24/36KV - 20kA BR-POWER
O transformador a seco BRVAL até 34,5kV: Robustez e confiabilidade para sua instalação.
(21)97105-6853 (Whatsapp) (11) 5199-0141 (Estado de SP) (21)3812-3100 (Demais Regiões) @brvalelectrical www.brval.com.br vendas@brval.com.br





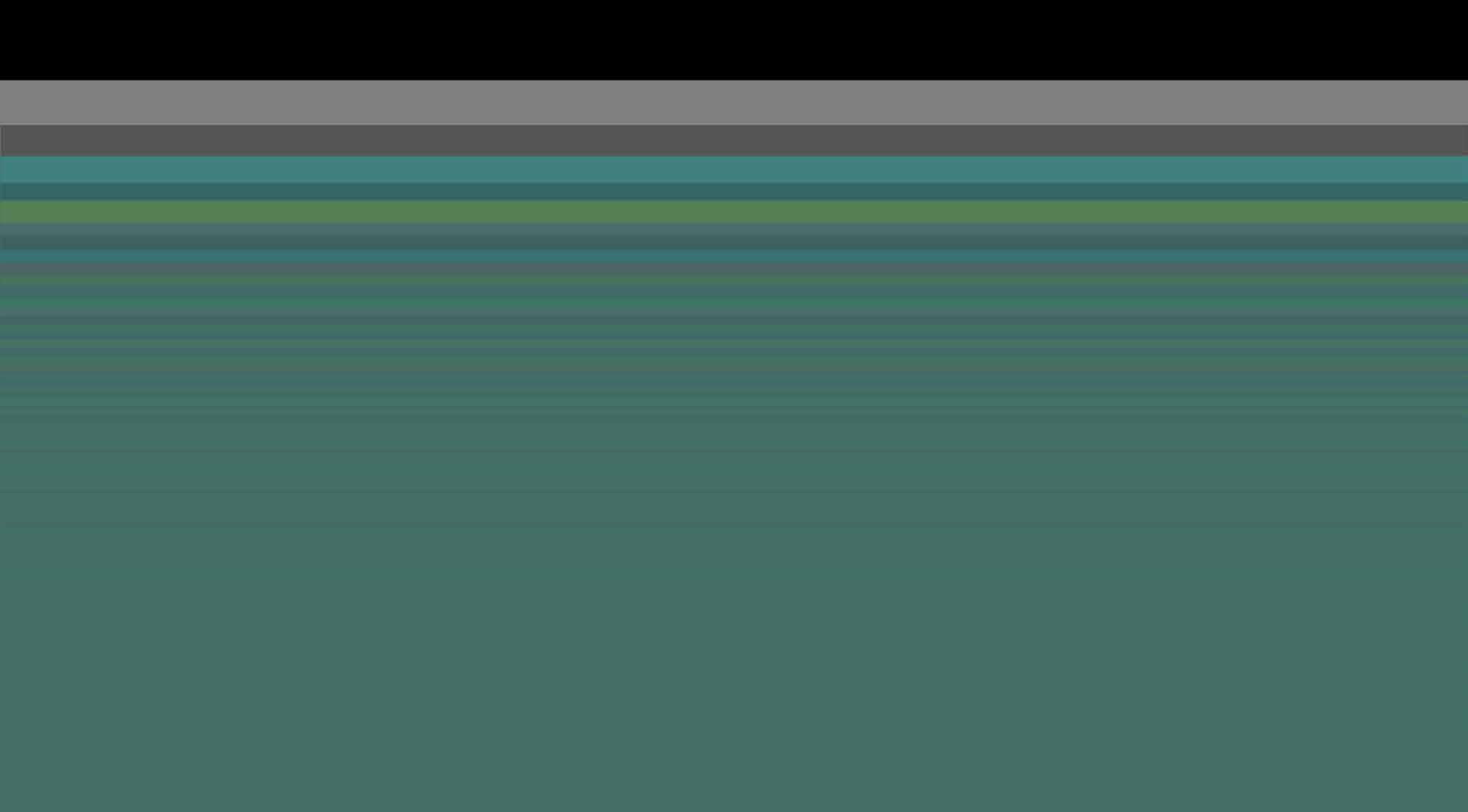
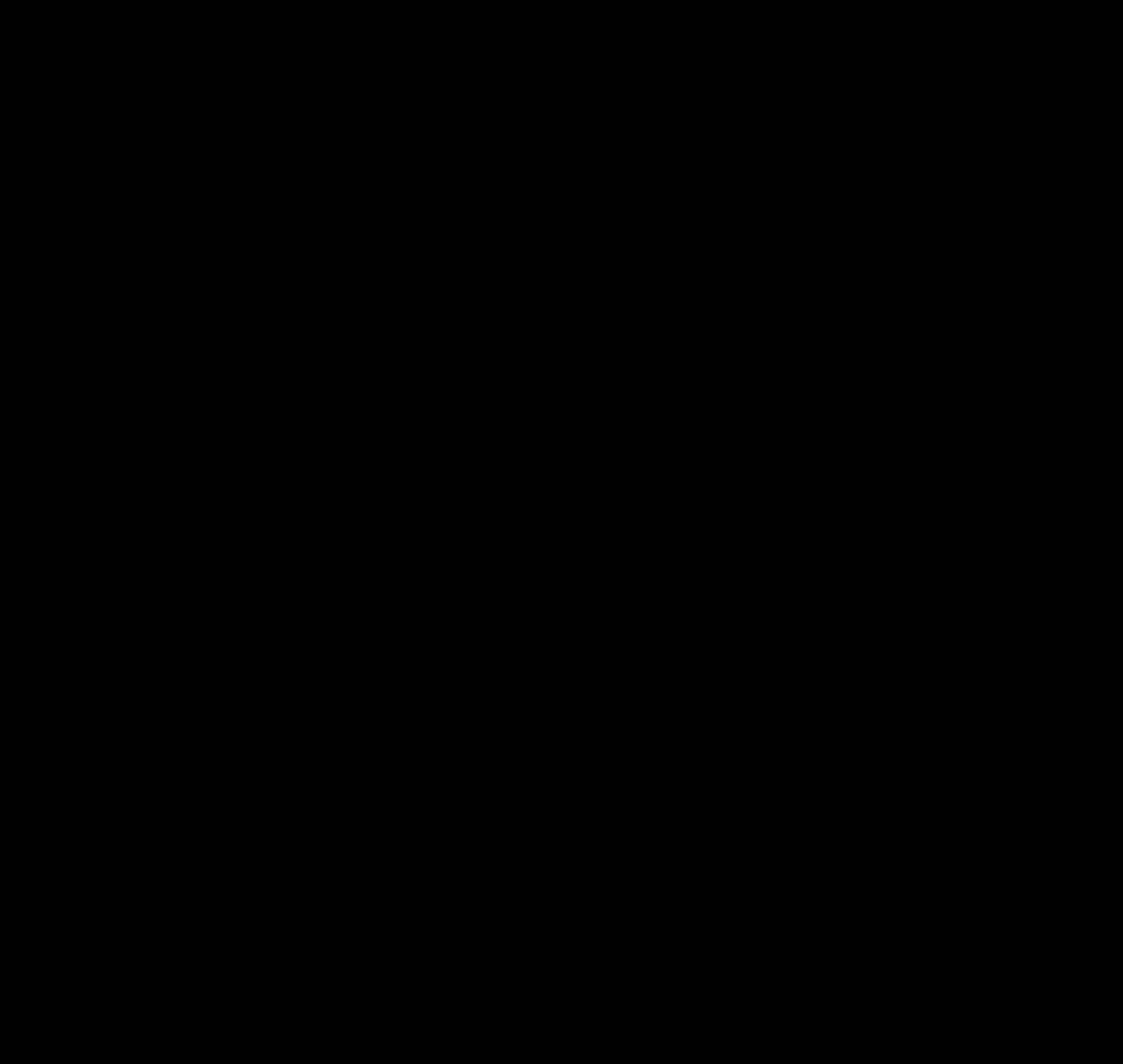
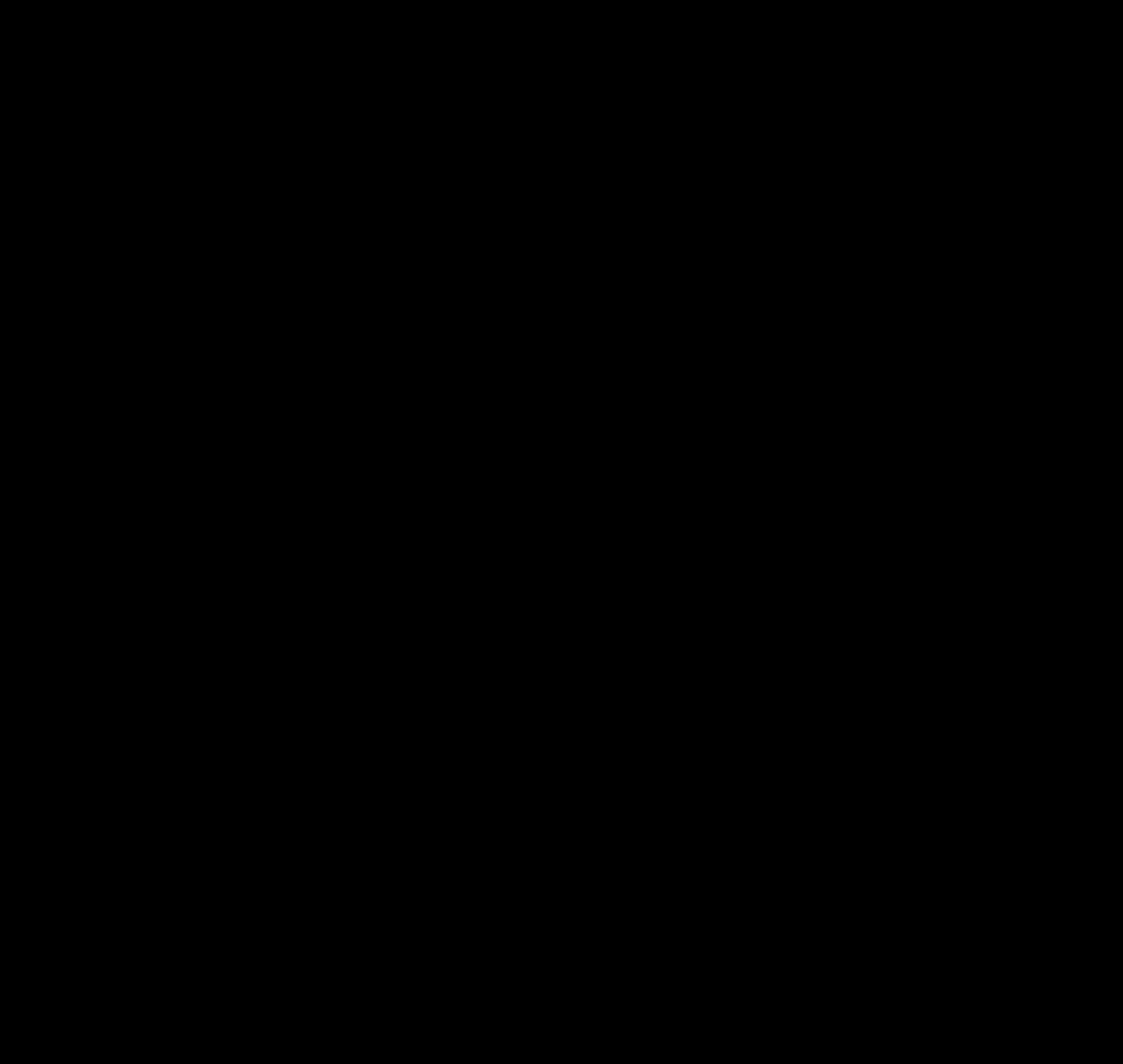





positivos (FPR) de 3,77% e uma taxa de verdadeiros positivos (TPR) de 71%, indicando a precisão para conexões não cadastradas. Esses resultados evidenciam o desempenho bem-sucedido do método proposto, embora alguns erros de atribuição ocorram devido às limitações nos métodos de cálculo de pesos. A Figura 5 visualiza os pesos das conexões atribuídas e os rótulos, destacando onde os erros ocorreram. O uso do FFNN, que considera não apenas a distância, mas também o arranjo das conexões, contribui para um desempenho aprimorado, apesar de alguns erros ocasionais.
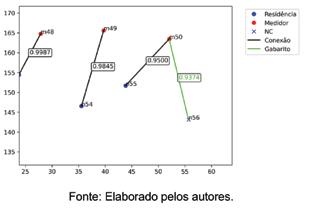
Foram realizados testes com coordenadas de medidores de unidades consumidoras. A Figura 6 mostra os resultados, com possíveis conexões não cadastradas em vermelho, centroides em verde e pontos de unidades consumidoras em azul. Uma descoberta interessante foi a identificação de uma possível conexão não cadastrada, evidenciando a eficácia da metodologia. Por fim, a Figura 6 também demonstra a aplicação do método em uma região maior, desta vez empregando coordenadas individuais das UCs, revelando uma concentração de possíveis ligações não cadastradas. Este estudo destaca a capacidade da metodologia proposta em detectar conexões não cadastradas individualmente e em regiões
com alta concentração, contribuindo para a segurança e eficiência do sistema elétrico. Os resultados indicam a eficácia da metodologia na detecção de conexões não cadastradas e destacam a importância contínua de pesquisas e avanços em IA e processamento de imagem para aprimorar a precisão e a aplicabilidade prática.
Este estudo concentra-se na detecção de conexões não cadastradas e propõe uma solução inovadora. Ele utiliza um modelo de visão computacional para identificar telhados de construções e associá-los a consumidores registrados na rede de distribuição, com base em coordenadas geográficas de imagens de satélite. Essa abordagem permite orientar inspeções de forma mais direcionada, reduzindo a dependência de cobertura exaustiva em campo. Além disso, abre a possibilidade de indicar áreas estratégicas para a instalação de sistemas de medição centralizada (SMC) e para a adoção de medidas de blindagem da rede, contribuindo para maior confiabilidade e segurança operacional. Os resultados obtidos demonstram a viabilidade da proposta e seus benefícios potenciais para as concessionárias de energia, os consumidores e o sistema elétrico como um todo.
AGRADECIMENTOS
Os autores agradecem o apoio técnico e financeiro da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A (CELESC), (projeto de P&D ANEELCELESC/UFSM/Fox IoT nº 0422/2022), Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Sistemas de Geração Distribuída de Energia (INCT-GD), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq - nº 465640/2014-1, processo nº150276/20230), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES - nº 23038.000776/2017-54, 001), Fundação de Apoio da Universidade Federal de Minas Gerais (Fundep), Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e Fox IoT.
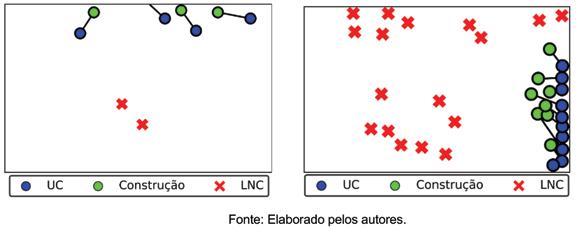

Agência Nacional de Energia Elétrica. “Perdas de energia elétrica na distribuição”. Brasília, 2021.
Basak, R. et al. “IoT based drone operated monitoring of distribution transformers and terminating illegal power connections”. In: 2019 3rd International Conference on Electronics, Materials Engineering & Nano-Technology (IEMENTech). IEEE, 2019, pp. 1–5.
Evaldt, M. “Uma metodologia para a identificação de perdas não técnicas em grandes consumidores rurais”. Dissertação de mestrado, 2014, Universidade (UF), Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica.
Jacques, M. M. et al. “Application of neural network to locate nontechnical losses in optical satellite images”. In: 2021 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies-Asia (ISGT Asia). IEEE, 2021, pp. 1–5.
Kaminski, A. M. et al. “Detecting Energy Theft through Assignment of AI Detected Buildings to Registered Consumer Units: A Novel Approach”. 2023.
Kuhn, H. W. “The hungarian method for the assignment problem”. In: Naval Research Logistics Quarterly, vol. 2, no. 1-2, pp. 83–97, 1955.
Pereira, G. A. “Uma metodologia para identificação de perdas não técnicas em sistemas de distribuição com vistas ao uso eficiente da energia elétrica”. Dissertação de mestrado, 2019, Universidade (UF), Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica.
Vanderbei, R. “Linear Programming: Foundations and Extensions”. International Series in Operations Research & Management Science. Springer US, 2007.











INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO | Por Paulo Barreto
VERIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES – PARTE 1
A nova seção 7 da ABNT NBR 5410 pode ser considerada a grande novidade da futura edição da norma. Até então, essa seção 7 “olhava” a instalação elétrica sob o ponto de vista de sua concepção (projeto), sua execução e a garantia de que ela seria entregue conforme suas prescrições. Por isso a denominação de “Verificação final”. Ou seja, verificação realizada até o final de sua execução (verificação para entrega de obra).
A futura edição também “olha” para esses aspectos, mas adiciona a etapa da instalação elétrica em uso. Ou seja, depois de executada e entregue. Desta forma, a nova seção 7 passa a ser denominada simplesmente de “Verificação das instalações elétricas”, e engloba dois tipos de verificações: inicial - para poder iniciar a utilização da instalação; e periódica - durante sua utilização.A verificação inicial deve ocorrer quando da entrega de uma instalação, ou parte de uma instalação recém-executada. Enquanto que a verificação periódica é aquela aplicável ao longo da vida da instalação.
A norma apresenta os requisitos mínimos de inspeção visual e de ensaios para cada uma dessas duas etapas. A responsabilidade pela verificação inicial é do executor da instalação elétrica nova, ampliada ou modificada, enquanto que as verificações periódicas são de responsabilidade do usuário das instalações.
O conteúdo atual da verificação final passará a ser o da verificação inicial, com acréscimo de alguns itens. E cria-se a subseção da verificação periódica, a qual indicará quais são os

itens mínimos de inspeção visual e de ensaios a serem realizados nessa etapa.Por enquanto, ainda na fase de análise dos votos para encaminhamento à segunda consulta nacional, os itens de inspeção visual e de ensaios previstos para cada uma dessas duas etapas, são os seguintes:
Qualquer instalação elétrica nova, ampliação ou modificação deve ser verificada, na medida do possível, durante a sua execução e/ou quando concluída, antes de ser colocada em serviço.
A documentação da instalação deve ser fornecida ao pessoal encarregado da verificação. Essa documentação deve refletir a instalação “como construída” (“as built”).
1.1) Inspeção visual
As principais verificações são:
a) medidas de proteção contra choques elétricos;
b) presença de barreiras corta-fogo e de outras disposições para limitar a propagação de fogo e a proteção contra os efeitos térmicos;
c) seleção dos condutores em relação à capacidade de condução de corrente;
d) seleção, localização, ajuste, seletividade e coordenação dos
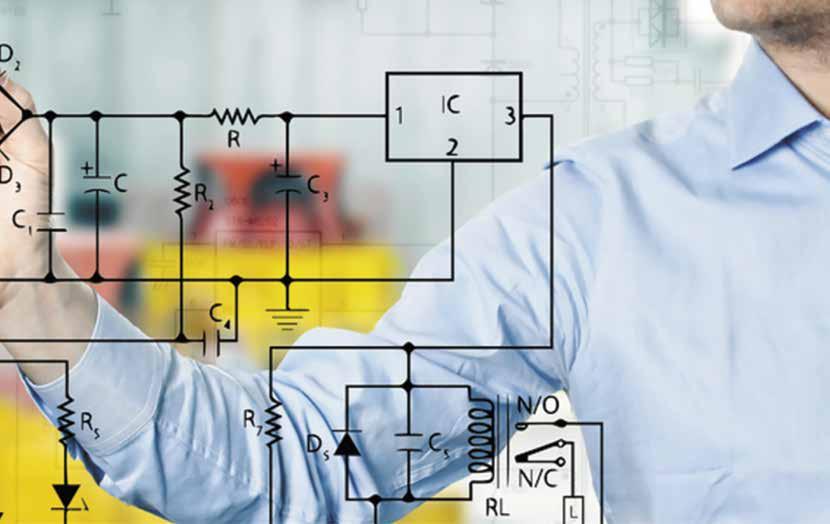
dispositivos de proteção e dos dispositivos de monitoramento;
e) seleção, localização e instalação dos dispositivos de proteção contra as sobretensões, quando especificado;
f) seleção, localização e instalação dos dispositivos de seccionamento e de interrupção;
g) seleção dos componentes e das medidas de proteção de acordo com as influências externas e os esforços mecânicos;
h) identificação dos condutores fase, neutro e de proteção;
i) presença de esquemas elétricos, advertências, sinalizações, instruções ou informações análogas
j) identificação das linhas elétricas, dos circuitos, dispositivos de proteção, bornes etc.;
k) adequação das terminações e das conexões dos condutores;
l) seleção e instalação do sistema de aterramento, dos condutores de proteção e suas conexões;
m) acessibilidade dos componentes e dos equipamentos para seu adequado funcionamento, inspeção e manutenção;
n) medidas contra as perturbações eletromagnéticas;
o) se as massas estão conectadas ao sistema de aterramento;
p) seleção e instalação das linhas elétricas.
Um tema importante que não é verificável nem na etapa da inspeção visual nem dos ensaios é a queda de tensão. Essa verificação deve ser feita com as informações do projeto, o qual deve conter, de forma explícita, a queda de tensão em todos os circuitos. No caso de circuitos terminais, o projeto pode contemplar apenas a informação da queda de tensão do circuito mais desfavorável.
1.2. Ensaios
Os ensaios a serem realizados, quando aplicáveis, são:
a) ensaio de continuidade dos condutores; b) ensaio de resistência de isolamento da instalação elétrica; c) ensaio de resistência de isolamento para confirmar a eficácia da proteção por SELV, PELV ou separação elétrica; d) ensaio de polaridade; e) ensaio para confirmar a eficácia do seccionamento automático da alimentação;
f) ensaio para confirmar a eficácia da proteção suplementar; g) ensaio de sequência de fases; h) ensaios de funcionamento;
Nesta mesma coluna da edição nº 213 (Agosto/Setembro de 2025), houve a inversão das Figuras 1 e 2, em relação às suas respectivas legendas. O arquivo digital da revista já apresenta as imagens corretamente.
SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE | Por Aguinaldo Bizzo
Muito se ouve falar sobre o processo de atualização da NR10, onde inúmeros questionamentos são feitos, e, muitos comentários de diversos profissionais representam opiniões, e, não necessariamente, informações precisas do que efetivamente ocorrerá após o término do processo regulamentar existente para atualização de Normas Regulamentadoras.
A última revisão ampla da NR10 ocorreu em 2005, ou seja, há 20 anos e, dessa forma, sua atualização é necessária, especialmente em face das transformações organizacionais do trabalho, e também, frente à necessidade de harmonização com normas Internacionais e nacionais, promovendo, inclusive, a adequação de quesitos técnicos vulneráveis e/ ou ausentes no texto em vigor.
Oportuno apresentar o histórico das atualizações nesta NR que originalmente foi editada pela Portaria MTb nº 3.214, de 08 de junho de 1978, sob o título “Instalações e Serviços de Eletricidade”, de maneira a regulamentar os artigos 179 a 181 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), conforme redação dada pela Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977, que alterou o Capítulo V (Da Segurança e da Medicina do Trabalho) do Título II da CLT.
Desde a sua publicação, a NR-10 passou por quatro processos revisionais, sendo duas amplas revisões e duas alterações pontuais.
A primeira revisão pela Portaria SSMT n° 12, de 6 de junho de 1983, teve como principal alteração a inclusão da referência às normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes e, supletivamente, às normas internacionais vigentes.
A partir da década de 90, em razão da grande transformação organizacional do trabalho, ocorrida no setor elétrico, em especial no ano de 1998, quando se iniciou o processo de privatização do segmento, trazendo consigo, subsidiariamente, outros setores e atividades econômicas, ocorreu significativo aumento do número de acidentes de trabalho. Essa situação provocou a necessidade de nova atualização da NR-10, inicialmente relatada durante a 13ª Reunião Ordinária da CTPP, realizada em 11 de dezembro de 1997, sendo então pautado o tema de revisão da NR-10 durante a 21ª Reunião Ordinária da CTPP, realizada em 05 de novembro de 1999. A partir dessa definição, houve a criação, pela Portaria SIT nº 04, de 09 de fevereiro de 2000, de Grupo Técnico (GT/NR-10) para elaboração da proposta de revisão da norma.
O texto base construído por esse grupo foi posto em consulta pública pela Portaria SIT nº 06, de 28 de março de 2002, após o quê, durante a 31ª Reunião Ordinária da CTPP, realizada em 07 de agosto de 2002, foi decidida a criação de Grupo de Trabalho Tripartite (GTT) para discussão da NR-10. O GTT elaborou proposta de regulamentação, que foi apresentada durante a 36ª Reunião Ordinária da CTPP, realizada em 27 e 28 novembro de 2003, e a 39ª Reunião Ordinária da CTPP, em 22 de setembro de 2004,

quando foi alcançado consenso para a quase totalidade da norma, exceto quanto ao item 10.7.3, que foi decidido pelo então Ministério do Trabalho. A segunda revisão da NR-10 foi publicada a pela Portaria MTb nº 598, de 7 de dezembro de 2004, que lhe conferiu o novo título de “Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade”, que também instituiu a Comissão Permanente Nacional sobre Segurança em Energia Elétrica (CPNSEE), com o objetivo de acompanhar a implementação e propor as adequações necessárias ao aperfeiçoamento da NR-10.
Com essa alteração, o texto da norma passou a dispor sobre as diretrizes básicas para a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, destinados a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que direta ou indiretamente interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade, nos seus mais diversos usos, e aplicações e quaisquer trabalhos realizados nas suas proximidades.
A terceira modificação da NR-10 representou uma alteração pontual, para correção no texto da norma da numeração dos anexos, tendo sido publicada pela Portaria MTPS nº 508, de 29 de abril de 2016, conforme decidido por consenso na CTPP, durante a 84ª Reunião Ordinária, realizada em 05 e 06 de março de 2016.
A quarta alteração, ocorreu em função da harmonização dos requisitos sobre capacitação, direitos e obrigações previstos na nova versão da Norma Regulamentadora nº 01 (NR-01) – Disposições Gerais, trazida pela Portaria SEPRT n° 915, de 30 de julho de 2019, cujo texto fora submetido e manifestado o consenso durante a 97ª Reunião Ordinária da CTPP, realizada em 04 e 05 de junho de 2019.
Conforme agenda regulatória definida também durante a 97ª Reunião Ordinária da CTPP, a modernização da NR-10 encontra-se em processo de discussão de forma tripartite, a fim de atender às demandas sociais, tanto no escopo técnico, como na seara da fiscalização do ambiente laboral do setor energético.
Considerando o texto colocado em consulta pública em 2020, vide Aviso da Consulta Pública nº 1/2020, no processo de revisão da Norma Regulamentadora nº 10 (Norma Regulamentadora de Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade), destaque para a interface da NR10 com o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), estabelecido na NR1, que dispõe a respeito dos requisitos gerais para as ações de prevenção e gerenciamento de riscos no ambiente de trabalho. Assim, o atendimento à NR10 de forma intrínseca deve ser contextualizado com a NR1, respeitando a hierarquia das Normas Regulamentadoras dada pela Portaria SIT nº 787, de 28 de novembro de 2018, sendo a NR10 Caracterizada como Norma Especial, e, portanto, com prevalência sobre a NR1, nos quesitos específicos, relacionados ao Fator de Risco Eletricidade.







Na edição de O Setor Elétrico nº 213, comentamos sobre a necessidade de revisar a subseção 5.3.1.1 da ABNT NBR 14039, que trata de subestação unitária simplificada, para adequar o sistema de proteção para os casos em que a instalação alimentada pela concessionária de energia irá operar em paralelo com uma GD. Chamamos a atenção para o fato de ser este tipo de instalação cada vez mais presente no Brasil e que, mesmo reconhecendo ser essa modalidade de subestação uma solução mais econômica para as instalações com potência instalada menor ou igual a 300 kVA, nas conexões de GD, em paralelo com a rede, são obrigatórias certas proteções elétricas que, em outra aplicação que não fosse o paralelismo, poderiam ser dispensadas. Apontamos então a necessidade de se substituir as chaves seccionadoras trifásicas equipadas com fusíveis limitadores no cubículo de entrada da instalação, por disjuntores tripolares protegidos por relés de proteção conectados a TC e TP.
Dando continuidade àquela discussão sobre a oportunidade de se revisar a subseção 5.3.1.1, vamos neste texto propor uma atualização técnica para aquele tipo de subestação unitária simplificada onde não seja previsto o paralelismo da rede com uma GD. Desde a publicação da ABNT NBR 14039 o estudo dos perigos da eletricidade em MT, tanto para os operadores quanto para as instalações, tem evoluído fazendo com que a demanda pela implementação de proteções elétricas tenha crescido significativamente.
Em 5.3.1.1 da ABNT NBR 14039 encontramos a seguinte prescrição:
“Em uma subestação unitária com capacidade instalada menor ou igual a 300 kVA, a proteção geral na média tensão deve ser realizada por meio de um disjuntor acionado através de relés secundários com as funções 50 e 51, fase e neutro (onde é fornecido o neutro), ou por meio de chave seccionadora e fusível, sendo que, neste caso, adicionalmente, a proteção geral, na baixa tensão, deve ser realizada através de disjuntor.”
Já em 5.4, a mesma norma prescreve:
“As sobretensões nas instalações elétricas de média tensão não devem comprometer a segurança das pessoas, nem a integridade das próprias instalações e dos equipamentos servidos.” (grifo nosso)
Em 5.5 temos um complemento para a prescrição acima:
“5.5.1 Devem ser consideradas medidas de proteção quando

uma queda de tensão significativa (ou sua falta total) e o posterior restabelecimento desta forem suscetíveis de criar perigo para pessoas e bens ou de perturbar o bom funcionamento da instalação. [...] (grifo nosso)
5.5.2 Quando aplicável, a proteção de máxima tensão deve atuar no dispositivo de seccionamento apropriado.” (grifo nosso)
Surge então uma questão: Como obedecer às prescrições da norma com relação às variações de tensão, se 5.3.1.1 permite a aplicação de chave seccionadora tripolar com fusíveis limitadores nas subestações unitárias simplificadas onde não existe paralelismo da rede com GD?
Uma solução seria a prescrição naquela subseção para a implementação de relé de tensão com funções temporizadas em dois estágios para as proteções de subtensão, sobretensão e inversão/ falta de fase. Mas surge então um problema: como essa proteção poderia atuar no dispositivo de seccionamento apropriado, como prescrito em 5.5.2, se na entrada da subestação existe uma chave seccionadora equipada com fusíveis limitadores? Para garantir que a chave seccionadora seja capaz de interromper a alimentação por um comando externo, é necessário que 5.3.1.1 especifique o uso de chaves seccionadoras trifásicas sob carga com câmara de extinção de arco, equipadas com fusíveis limitadores tipo HH e dispositivo disparador (bobina de abertura) capaz de receber um sinal de desligamento externo e acionar a abertura da chave.
Resolvido esse problema, resta então definir onde o relé de tensão deverá ser instalado. Uma vez que a permissão para a utilização de uma subestação unitária simplificada é baseada na simplicidade e consequente redução de custos, não seria economicamente viável a instalação de três TP no lado de média tensão do cubículo de entrada. Por esse motivo, a recomendação proposta é a instalação de um relé de proteção de tensão com ajustes para subtensão, sobretensão e falta de fase (preferencialmente com dois estágios de ajuste para cada função). O(s) contato(s) de saída desse relé deverá enviar um sinal para atuação da bobina de abertura instalada na chave seccionadora MT garantindo o seccionamento da instalação, atendendo assim o prescrito em 5.5.1 e 5.5.2.
Essa sugestão será apresentada para análise e deliberação em reunião plenária da Comissão de Estudos 003.064.011 do COBEI/ABNT que está revisando a ABNT NBR 14039.

Sumário - Este artigo analisa a aplicação e os benefícios da função de rearme automático em cabines primárias de média tensão, com foco na restauração do fornecimento de energia após desligamentos provocados por distúrbios temporários na rede de distribuição da concessionária, como subtensões, sobretensões e variações de frequência. A norma NR-10 impõe restrições importantes ao acesso e operação em subestações, o que torna ainda mais relevante o uso de soluções que evitem manobras manuais e aumentem a segurança operacional. São abordadas as diferenças entre desligamentos por corrente e por tensão, os tempos envolvidos no restabelecimento manual da energia elétrica e as condições técnicas para implementação do rearme automático por meio das funções ANSI 79V e 79F. A funcionalidade é destacada como um recurso eficiente, seguro e cada vez mais necessário para elevar a confiabilidade, reduzir custos operacionais e ampliar a disponibilidade dos sistemas elétricos em instalações críticas, como hospitais, indústrias e usinas fotovoltaicas.
A cabine primária, sendo o ponto de entrega da energia elétrica fornecida pela concessionária de distribuição, é uma estrutura essencial em indústrias, edifícios comerciais, centros administrativos, shopping centers, hospitais, supermercados e diversas outras instalações de grande porte. Sua operação deve estar em conformidade com as diretrizes da NR 10, que estabelece normas rigorosas para a segurança em instalações elétricas.
Dentre essas exigências, destacam-se:
• Necessidade de presença mínima de duas pessoas autorizadas para a realização de manobras;
• Uso obrigatório de equipamentos de proteção individual e coletivo durante manobras (roupas específicas, luvas, bastões isolantes, tapetes de borracha, entre outros);
• Apenas profissionais habilitados podem realizar as manobras no interior da cabine.
A NR-10 salienta que a cabine primária não pode ser acessada indiscriminadamente por qualquer colaborador da empresa.
Entretanto, situações emergenciais podem ocorrer fora do horário comercial, quando o profissional habilitado pode não estar disponível. Além disso, minimizar a exposição de eletricistas, mesmo sendo habilitados, às operações de manobras vem a aumentar a segurança das operações.
Sendo assim, a adoção de um esquema de rearme automático surge como uma solução eficaz, permitindo a recomposição da energia sem a necessidade de acesso físico à cabine primária, reduzindo riscos. Além disso, pelo fato de ser automático aumenta a disponibilidade do sistema elétrico.
A implementação do esquema de rearme automático só é viável em cabines primárias que possuem proteções de tensão implementadas (ANSI 27, ANSI 59, ANSI 81, ANSI 47). Caso a cabine tenha apenas proteção de sobrecorrente, o rearme automático perde sua efetividade. Isso ocorre porque nem todas as concessionárias exigem proteções de tensão nas cabines primárias e algumas chegam até a proibir sua implementação. Portanto, antes de considerar o rearme automático como uma solução eficaz, é fundamental que haja uma exigência clara das concessionárias, ou pelo menos que haja permissão, quanto à implementação das funções de tensão.
A adoção das proteções de tensão garante maior segurança e continuidade operacional para ambas as partes envolvidas.
O tempo necessário para restabelecer a energia elétrica em uma cabine primária de média tensão por meio de rearme manual pode variar de 5 a 45 minutos, dependendo da complexidade da falha, da experiência da equipe e da disponibilidade de equipamentos adequados. Os principais fatores que influenciam esse tempo são:
• Diagnóstico da falha (5 a 15 minutos): É o tempo para identificar a causa da interrupção de energia;

• Preparação de segurança (5 a 10 minutos): Envolve o uso de EPIs, isolamento da área e inspeção visual da cabine;
• Ação de uma manobra manual (5 a 10 minutos): Inclui o acionamento do disjuntor e a verificação se as grandezas elétricas estão normais;
• Monitoramento após o restabelecimento (5 a 10 minutos): Avaliação da estabilidade do sistema elétrico para evitar novas falhas.
Nas cidades de grande porte, o tempo total de restabelecimento pode variar entre 30 minutos a 2:30 horas, considerando fatores como:
• Contatar o responsável (10 a 30 minutos);
• Deslocamento até a cabine primária (15 a 90 minutos);
• Execução da manobra e verificações (10 a 20 minutos).
Conforme mencionado na introdução deste artigo, o uso de sistemas automáticos de rearme reduz significativamente esses tempos, garantindo maior disponibilidade da energia elétrica e substancial aumento da segurança de eletricistas e operadores de subestações. "Rearme automático: mais eficiência, menos tempo de inatividade!"
3 - DESLIGAMENTOS POR CORRENTE VERSUS DESLIGAMENTOS POR TENSÃO
Antes de tratarmos do rearme automático para restabelecimento da energia elétrica, iremos analisar os desligamentos elétricos, que podem ser classificados simplificadamente em duas categorias principais:
• Desligamento por tensão;
• Desligamento por corrente.
Cada tipo de desligamento exige procedimentos específicos para diagnóstico e restabelecimento.
3.1- Desligamento por Tensão: Ocorre devido a variações na rede da concessionária, como subtensões, sobretensões, subfrequências, reversão de fases ou falta de fases. A solução envolve a verificação da estabilidade da rede e se houve a correção dessas variações antes do restabelecimento da energia. Diagnósticos e inspeções estão relacionados a eventos externos com a atuação do relé e disjuntor da cabine, podendo haver riscos de danos em equipamentos devido às variações de tensão.
O restabelecimento depende do retorno das grandezas às condições normais de operação ( tensão e frequência).
3.2 - Desligamento por Corrente: Relaciona-se a curtos-circuitos ou sobrecargas, exigindo uma análise detalhada dos circuitos internos, para identificar e corrigir a falha. Diagnósticos da falha e inspeções se voltam para a verificação de disjuntores, transformadores e cabos para detecção de danos, podendo haver riscos de incêndio ou arco elétrico. O restabelecimento deve ser feito de forma gradual, garantindo que o problema foi resolvido antes de restabelecer o sistema.
A principal diferença entre os dois tipos de desligamentos está na origem do problema e nas ações necessárias para um restabelecimento seguro:
• Em problemas de tensão, a atenção se volta para a rede externa. Já em problemas de corrente, o foco está na inspeção detalhada dos equipamentos internos da cabine primária.
• Os desligamentos por sobrecorrente atuam protegendo a rede da
concessionária ao desconectar o consumidor em casos de falhas. Já os desligamentos por tensão desempenham o papel oposto, preservando o consumidor contra possíveis irregularidades na rede elétrica.
Em ambos os casos, seguir protocolos rigorosos é essencial para garantir um restabelecimento seguro e eficiente.
"Os desligamentos por sobrecorrente atuam protegendo a rede ao desconectar o consumidor em casos de falha, ao passo que os desligamentos por tensão preservam o consumidor contra possíveis irregularidades na rede elétrica da concessionária."
É importante destacar que os desligamentos provocados por curtos-circuitos ou sobrecargas continuarão exigindo a realização de manobras manuais, conforme já descrito acima. Nessas situações, a atuação dos dispositivos de proteção exige a intervenção de operadores para garantir uma retomada segura e controlada do fornecimento de energia, evitando riscos adicionais à instalação e ao sistema elétrico.
O rearme automático em cabines primárias de média tensão é uma funcionalidade presente nos modernos relés de proteção, que permitem a restauração automática da energia após atuação devido a falhas temporárias ou anomalias na rede. Deve ser ativado após eventos externos, ou seja, desligamentos geralmente provocados por variações na tensão e/ou frequência.
Em hipótese alguma deverá ocorrer um rearme automático após desligamentos provocados por corrente (curtos-circuitos, sobrecargas) e consiste na restauração automática do fornecimento de energia após a normalização da tensão primária. É realizado pelo fechamento do disjuntor da subestação através de um comando enviado pelo relé de proteção.
Esse processo é controlado pela função ANSI 79V (Rearme Automático por Tensão) ou ANSI 79F (Rearme Automático por Frequência) e busca garantir o retorno da operação sem necessidade de intervenção manual, sempre que as condições da rede permitirem.
4.1 - Funcionamento do Rearme Automático em Cabines Primárias de Média Tensão
1 - Atuação da Proteção: O relé de proteção da cabine monitora as grandezas elétricas e atua em ocorrências como subtensão (atuação da função ANSI 27), sobretensão (atuação da função ANSI 59), subfrequência (atuação da função ANSI 81), desequilíbrio ou inversão de fases (atuação da função ANSI 47) e falta de fases (atuação da função ANSI 48). Quando esses eventos ocorrem, o relé atua no respectivo disjuntor para desligar o circuito e interromper o fornecimento de energia para proteger equipamentos e garantir a segurança do sistema.
2 - Acionamento da Função ANSI 79V ou 79F: As funções de rearme automático atuam após a normalização da rede, garantindo um retorno seguro da operação. Após a atuação da função ANSI 27/59/81/47/48, com o disjuntor ainda aberto, o relé fica esperando o retorno da tensão/
frequência aos níveis normais de operação. Quando a situação se normaliza, o relé inicia uma temporização antes de tentar o rearme. Se ao final do tempo de espera a tensão, frequência e equilíbrio de fases estiverem dentro dos limites aceitáveis, o relé envia um comando para religar o disjuntor, restabelecendo o fornecimento de energia.
Porém, caso haja algum problema no fechamento do disjuntor, o rearme é bloqueado para evitar danos ao sistema e equipamentos. A figura 1 abaixo exemplifica a sequência de operação da unidade 79V e sem evento de frequência.
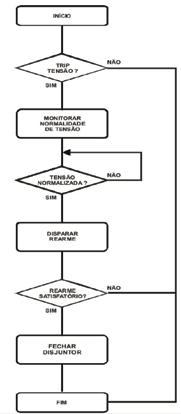
Fig 1: Fluxograma de operação da unidade de rearme 79V
Cumpre ressaltar que caso a interrupção de fornecimento da energia seja muito prolongada, a função de rearme automático funcionará desde que o no-break esteja em operação ( normalmente 2 horas de autonomia).
3 - Critérios de Rearme: O rearme automático pode ocorrer em múltiplas tentativas e uma típica sequência é ilustrada abaixo:
• Desligamento do disjuntor pela função ANSI 27 - subtensão;
• Primeira tentativa de rearme pela função ANSI 79V: Após a tensão retornar aos níveis normais de operação, o relé inicia uma temporização e após o tempo expirar, há uma tentativa de rearme;
• Se após a tentativa de rearme bem sucedida houver nova subtensão e atuação da função ANSI 27 novamente, o processo se reinicia.
4 - Restrições ao Rearme Automático: Para garantir a segurança operacional, algumas situações não devem permitir o rearme automático, como por exemplo:
• Eventos de sobrecorrente e curto-circuito: O rearme não é permitido, pois a falha pode comprometer a segurança da instalação;
• Consumidores com geração própria: Caso haja grupo gerador na instalação, o rearme automático não deverá ser ativado, para evitar riscos de paralelismo indevido;
• Falha no Fechamento: Se na tentativa de rearme houver falha no fechamento do disjuntor, haverá bloqueio do esquema, que exige a intervenção manual.
4.2 - Importância do Rearme Automático
O rearme automático é essencial para minimizar interrupções causadas por falhas temporárias, como as variações transitórias de tensão ou frequência. Ele reduz o tempo de indisponibilidade do sistema e evita deslocamentos desnecessários de equipes de manutenção.
Contudo, é fundamental diferenciar o rearme automático (ANSI 79V ou ANSI 79F) do religamento automático tradicional (ANSI 79). O rearme automático atua em eventos de tensão, desequilíbrios e falta de fases, permitindo a retomada da operação quando as condições normalizam e não deve ser aplicado para eventos de sobrecorrente ou curto-circuito, pois esses exigem uma análise detalhada antes da reenergização.
As funções ANSI 79V e ANSI 79F desempenham um papel crucial na continuidade operacional de sistemas de média tensão, permitindo o restabelecimento rápido da energia quando as condições da rede são seguras e garantindo maior segurança operacional.
"Para quem busca eficiência, o rearme automático não é uma opção – é uma necessidade."
4.3 - Aplicações da Função de Rearme Automático
A função de rearme automático por tensão e frequência possui ampla aplicação em sistemas onde a continuidade do fornecimento de energia é crítica, como indústrias, hospitais, data centers, sistemas de abastecimento de água e esgoto, usinas fotovoltaicas, etc.
4.4 - Benefícios do Rearme Automático
A principal vantagem da função de rearme automático por tensão e frequência é o aumento da confiabilidade do sistema elétrico. Em vez de depender de uma intervenção manual após um distúrbio, o relé de proteção pode restabelecer automaticamente o serviço, reduzindo o tempo de inatividade e evitando perdas financeiras associadas a interrupções prolongadas. Outra grande vantagem é a redução de exposição ao risco por parte dos operadores e eletricistas às operações de manobras manuais no local, fato que aumenta a segurança das operações.
As funções ANSI 79V – Rearme Automático por Subtensão e ANSI 79F - Rearme Automático por Frequência, desempenham um papel essencial na otimização da operação de subestações primárias de média tensão. A figura 2 ilustra um moderno relé de proteção digital para cabines primárias que incorpora essa funcionalidade, oferecendo uma solução robusta e confiável para restabelecimento automático da energia diante de variações ou desligamentos temporários na rede da concessionária.

Sem essa funcionalidade, instalações consumidoras e também as usinas fotovoltaicas podem enfrentar atrasos no restabelecimento, impactando o fornecimento de energia elétrica e gerando custos adicionais.
Os benefícios do "Rearme Automático" justificam a sua implementação nas cabines primárias de média tensão:
• Redução do tempo de interrupção de energia;
• Menores custos operacionais, eliminando deslocamentos desnecessários;
• Maior segurança física a eletricistas e operadores ao evitar uma exposição ao risco durante manobras;
• Maior confiabilidade, com um automatismo testado e aprovado;
• Em usinas fotovoltaicas, há uma maior eficiência, evitando desperdícios e garantindo melhor aproveitamento da geração.
Essa solução contribui para tornar a energia elétrica mais eficiente, confiável e automatizada, garantindo maior desempenho e rentabilidade para consumidores e usinas. A funcionalidade de rearme automático é essencial para garantir o restabelecimento automático da subestação em casos de desligamentos causados por variações ou quedas temporárias na tensão ou frequência da rede da concessionária.
*Paulo Edmundo Freire da Fonseca é engenheiro eletricista e Mestre em Sistemas de Potência (PUC-RJ). Doutor em Geociências (Unicamp), membro do Cigre e do Cobei e também atua como diretor na Paiol Engenharia.


Ométodo científico fundamenta a formulação das leis na ciência, que podem ser classificadas, de forma geral, em leis empíricas e leis causais. As leis empíricas, quando expressas matematicamente, sintetizam resultados obtidos em ensaios ou observações da natureza, sem a necessidade de um embasamento teórico que justifique sua validade ou explique os processos físicos envolvidos. Já as leis causais (ou teóricas) explicam por que e como os fenômenos ocorrem, apoiando-se em bases físicas e matemáticas. Essas leis fornecem a estrutura conceitual que dá sentido e consistência aos resultados empíricos.
É importante destacar que uma lei científica não precisa ser expressa matematicamente. Um exemplo é a Lei de Sarawak, de Alfred Russel Wallace, que antecedeu a Teoria da Seleção Natural de Darwin: “toda espécie veio a existir, por coincidência, tanto no espaço como no tempo, com espécies proximamente aliadas”. Em outras palavras, espécies relacionadas tendem a surgir próximas geograficamente e em períodos semelhantes.
Até Isaac Newton, o conhecimento científico era expresso em enunciados do tipo “se fizer isto, acontece aquilo”. Com a publicação do Principia Mathematica (1687), Newton inaugurou a era da modelagem matemática baseada em leis causais, demonstrando que os movimentos planetários – já descritos empiricamente por Johannes Kepler – podiam ser deduzidos a partir das equações que expressavam a ação da gravidade. No campo da eletricidade e do magnetismo, as leis fundamentais surgiram nos séculos XVIII e XIX a partir de observações e experimentos realizados por cientistas como Joseph Ohm, John Michell, Joseph Priestley, Charles Augustin Coulomb, Alessandro Volta, Hans Christian Oersted, AndréMarie Ampère e Michael Faraday. Somente na segunda metade do século XIX, James Clerk Maxwell, em seu artigo On the Dynamical Theory of Gases (1867), consolidou a teoria eletromagnética, demonstrando matematicamente que a luz era uma forma de onda eletromagnética que se propagava no vácuo com velocidade finita. Dois exemplos clássicos de evolução de leis na física:
– gravitação – base de dados observacionais de Tycho Brahe à Leis de Kepler (empíricas) à Lei de Newton (causais) à Leis da Relatividade (Einstein) – Especial (2005) e Geral (2015); – eletromagnetismo – Leis de Ampére, de Gauss e de Faraday (empíricas) à Leis originais de Maxwell (20 equações, causais) à Leis de Maxwell/Heaviside (4 equações).
MÉTODO
Investigações de cunho científico ou tecnológico envolvem, usualmente, três etapas principais: a medição de parâmetros, a construção de um modelo e a análise teórica do problema, atualmente utilizando simulações numéricas em computador. Modelos são aproximações da realidade, de modo que não se pode esperar que os valores medidos e os calculados sejam iguais. Porém, se não houver uma coerência entre eles, há que se rever uma das três fases deste processo: medições, modelagem e simulação.
Quando o processo parte da experimentação para a teoria, diz-se que a investigação é de baixo para cima. Quando se inicia em cálculos ou simulações e depois se busca a comprovação experimental, é chamada de cima para baixo. O mais importante é que o ciclo seja fechado, independentemente da direção. Esse ciclo não precisa ser conduzido por uma única equipe: teóricos elaboram modelos, experimentalistas realizam medições, e os resultados podem ser integrados por um terceiro grupo.
O projeto de um sistema de aterramento segue a mesma lógica do método científico: medições, modelagem e simulação. Ele inicia-se com as sondagens geoelétricas, popularmente conhecidas como medições de resistividades do solo; em seguida envolve duas modelagens: – solo – usualmente em um modelo unidimensional (camadas horizontais paralelas); e – sistema de aterramento – cujo detalhamento vai depender dos recursos do software utilizado.
Utilizando-se estes dois modelos, é possível simular o sistema de aterramento, para o cálculo da sua performance: resistência/impedância de aterramento e potenciais no solo (com o mapeamento das tensões de passo e de toque).
A modelagem geoelétrica possui limitações, uma vez que é um processo inverso sujeito a ruídos, interferências e restrições de modelagem. O ideal seria que após a construção do aterramento, fossem feitas medições dos parâmetros de desempenho, de modo a verificar a modelagem adotada. Com base nos resultados desta medição final, poderia ser feito um ajuste do modelo geoelétrico inicialmente adotado, de modo que novas simulações revelassem uma maior coerência entre os valores calculados e medidos.
Infelizmente, esta última fase raramente é executada, e quando o é, os resultados são usualmente pouco confiáveis. Isso ocorre em função da complexidade inerente às medições de aterramentos em geral, especialmente dos de grande área, além do seu elevado custo. Por este motivo é que é sempre bom lembrar do último parágrafo da norma IEEE-2778 (Aterramento de Usinas Fotovoltaicas), que enfatiza a importância do investimento na construção de um bom modelo geoelétrico, e que em uma tradução livre diz o seguinte: “Faça o melhor projeto de aterramento, com o melhor modelo de solo, porque você não vai conseguir medir depois de pronto”.
O único tipo de projeto em que eu consegui aplicar o ciclo completo do método científico é o de eletrodos de aterramento HVDC, que pode ser objeto de um futuro artigo.
A aplicação do método científico é muito útil também para avaliar práticas tradicionais, que, por vezes, não sobrevivem ao crivo do procedimento completo: medição, modelagem e simulação. É o que ocorreu com a prática generalizada de avaliar o desempenho de malhas de aterramento de subestações utilizando medições com um terrômetro de alta frequência (usualmente de 25 kHz). Constata-se que, na grande maioria das situações, os valores medidos não têm nenhum compromisso com os resultados das simulações, o que já foi verificado, inclusive, com o uso de diferentes softwares.















Antonio Carlos Barbosa Martins é diretor técnico do CIGRE-Brasil
Amorosidade na manutenção, expansão e acesso à infraestrutura de transmissão e das redes de distribuição, especialmente frente à crescente demanda por fontes renováveis para data centers e veículos elétricos, impacta na instabilidade do fornecimento e no preço alto da energia para o consumidor final. A atualização regulatória se faz urgente para adaptações à era digital e sustentável por um futuro com mais desenvolvimento econômico, ambiental e social no Brasil.
Nos anos 90, o setor elétrico brasileiro contou com um grande programa de privatizações e a segmentação entre geração, transmissão (ativos de tensão maior ou igual a 230kv) e distribuição (com tensões menores), de maneira a acomodar o crescimento da carga com base em investidores.
Para transmissão, o governo federal adotou a entrada de novos investidores privados na expansão da rede. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), quase 80 mil quilômetros de novas linhas foram envolvidos em concessão pública de 30 anos, por leilões que excederam US$ 50 bilhões em investimentos. Essas concessões estão prestes a vencer e o modelo regulatório atual — estruturado em tetos de receita — não acompanha as exigências de manutenção e modernização da rede.
O contexto de transmissão tem procedimentos para reforçar, reformar ou substituir ativos na concessão. O regulador deve aprovar quase todos os projetos de serviços públicos na rede. Do contrário, o serviço público deve ser impedido de incorporar os custos de investimento na base de ativos para repassar como tarifas aos usuários finais. A aprovação prévia é do regulador, que vem postergando decisões. Logo, uma série de projetos estão acumulados.
Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), cerca de 100 mil equipamentos teriam a “vida útil regulatória” ultrapassada até 2022, exigindo US$ 6 bilhões para “intervenções indicadas”. Isso, apesar de norma específica da ANEEL prever melhorias para substituição de equipamentos de transmissão com vida útil esgotada.
Para “Melhorias de Grande Porte”, há uma seção específica do plano de expansão com visão de 5 anos à frente, avaliado e produzido pelo ONS. Quando o projeto é incluído no rol de
consolidação do Ministério de Minas e Energia, se faz necessária a prévia fixação de receita por resolução específica da ANEEL. Para as “Melhorias de Pequeno Porte”, elaboradas pelo ONS, a receita adicional correspondente é estabelecida na Receita Anual Permitida (RAP), após a entrada em operação comercial.
O regulador define como “melhoria” iniciativas para manter o serviço e “reforços” às frentes para aumentar capacidade, confiabilidade e substituição, devido ao fim da vida útil ou para conexão de usuários. No entanto, o que as concessionárias entendem por vida útil do ativo, que consideram aspectos físicos, econômicos e regulatórios, não batem com a regulação. Logo, fica difícil a aprovação para investimento na rede.
Estima-se que cerca de 22% seja a parcela média de ativos totalmente depreciados em serviço, em relação à toda a base, atualmente. Isso expõe as concessionárias a riscos, como penalidades por indisponibilidade de fornecimento de energia, sem uma remuneração adequada.
Em função do regramento atual, é provável que um grande conjunto de ativos atinja a vida útil física sem suporte regulatório para mantê-lo funcionando. O modelo de reinvestimento na rede é omisso, pois não considera indicadores de mercado. Ele é confuso, por não reconhecer o potencial esforço de extensão da vida útil de equipamentos e criar “dependência” do ONS e da Empresa de Pesquisa Energética (EPE).
As conclusões e propostas são parte do estudo técnico recémdivulgado pela Academia Nacional de Engenharia (ANE) e o CIGREBrasil. O documento traz insights para a promoção da resiliência da rede elétrica, diante da expansão da geração distribuída, e estímulos à transição energética em linha com a sustentabilidade e incorporação de tecnologias digitais.
A modernização da transmissão exige um regime especial, acerca dos planos de investimentos, para acelerar avanços e apoiar a expansão e o acesso às redes. Assim, o regulador pode progredir de forma mais racional quanto à remuneração dos ativos, ponderando corretamente OPEX e CAPEX da rede existente. Caso contrário, a eficiência e a segurança do sistema seguirão em risco.


Solução completa em dispositivos de proteção, comando e medição elétrica
Referência mundial em automação industrial, a Mitsubishi Electric fornece também produtos e soluções para proteção elétrica de instalações, que podem ser aplicados em diversos segmentos, de grandes indústrias e edifícios a painéis e residências, inclusive no canteiro de obras.
Nossa família de produtos de baixa tensão é composta por disjuntores, contatores, relés de sobrecarga e multimedidores. São mais de cinco mil itens fabricados no Japão, de fácil instalação e manutenção, além de alta qualidade, con abilidade e custo-benefício. São disjuntores até 6.300A e partidas de motores até 800A que seguem as principais normas internacionais de segurança, atendendo inúmeros clientes ao redor do mundo.
No Brasil, contamos com uma vasta rede de distribuidores e integradores de sistemas devidamente treinados e prontos para atendê-lo tanto em novas instalações como em retro ts. Acesse os nossos canais de comunicação e conheça mais.
Conheça a Mitsubishi Electric nos seguintes canais:
Escaneie para mais informações:









Abradee reafirma compromisso do segmento de distribuição com o combate ao crime e pede colaboração da sociedade e das autoridades
O furto de energia elétrica, popularmente conhecido como “gato”, é um desafio para o setor elétrico brasileiro. Segundo o estudo “Furto de energia – perdas não técnicas”, da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), apenas em 2024, o problema custou mais de R$ 10,3 bilhões em perdas reais — um volume de energia equivalente à geração de duas usinas hidrelétricas de Santo Antônio.
A prática se concentra principalmente no mercado de baixa tensão, e a Região Norte responde por quase 50% dessas perdas, seguida pelo Sudeste (15%), Nordeste (12%), Sul (8%) e Centro-Oeste (7%). Para além do impacto econômico, os “gatos” colocam em risco a estabilidade da rede e a vida da população: em 2024, foram 45 mortes e 69 feridos em acidentes envolvendo ligações clandestinas e roubos de equipamentos.
A Abradee vem intensificando sua atuação por meio da Campanha Nacional de Segurança, que alerta a população sobre os riscos e incentiva denúncias de irregularidades. Além disso, as distribuidoras têm investido em medidores mais resistentes e em sistemas de inteligência artificial para identificar fraudes sofisticadas.
“Perde o consumidor e perdem as distribuidoras. O valor da perda não técnica regulatória já contribui com 2,6% da conta de energia. As distribuidoras também perdem — cerca de R$ 4 bilhões/ ano — ou seja, não é falta de incentivo econômico. Ao contrário. A perda não técnica regulatória cai ano a ano, ao passo que a perda real aumenta”, explica o diretor executivo de Regulação da Abradee, Ricardo Brandão.
ENDURECIMENTO LEGAL
O Brasil ainda convive com o furto de cabos elétricos e de telecomunicações. Neste caso, a lei 15.181/2025, sancionada recentemente, intensificou as punições. As penas agora variam de 2 a 8 anos para furto, de 6 a 12 anos para roubo e até 16 anos para receptação qualificada, sempre com multa. “É muito importante, sim, a penalização daquele que está provocando essa receptação, que no fundo é quem incentiva que esse crime ocorra”, comenta o presidente da Abradee, Marcos Madureira. Se houver interrupção de serviços, ou

o crime ocorrer em situação de calamidade, por exemplo, a punição será dobrada.
Mesmo com as medidas já em curso, a Abradee reforça que o combate ao furto de energia e de cabos exige engajamento conjunto de empresas, poder público e sociedade. Mais do que uma questão econômica, trata-se de garantir segurança, justiça tarifária e confiabilidade do sistema elétrico, pilares fundamentais para sustentar o desenvolvimento do país.
Acesse o estudo mais recente da Abradee sobre o furto de energia. (QR Code)


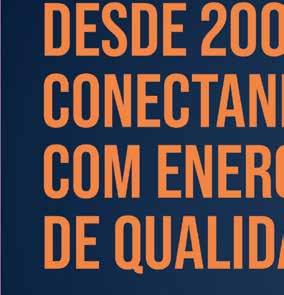


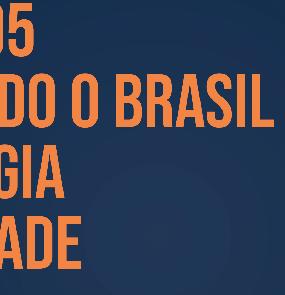
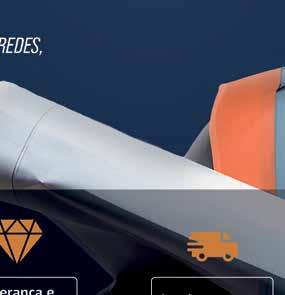




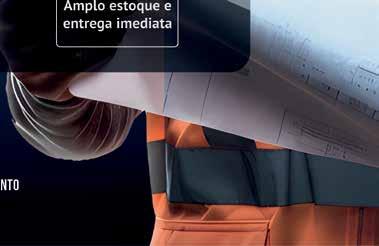


Atualização inclui correções em valores de correntes admissíveis, mudança de conceitos de aterramento, novo protocolo para testes de cabos e requisitos adicionais de proteção, voltados à expansão da GD

A ABNT NBR 14039, norma que estabelece requisitos para instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV, está com revisão em andamento desde 2019 e tem previsão de ser publicada no segundo semestre de 2026.
A atualização busca alinhar o texto às melhores práticas internacionais, em especial à IEC 61936-1:2021, e inclui correções em valores de correntes admissíveis, atualização de conceitos de aterramento em Média Tensão (MT), avanços em testes de cabos, novas orientações para o uso de transformadores de corrente frente aos IEDs e requisitos adicionais de proteção, em face do crescimento da geração distribuída.
Um dos primeiros pontos tratados pela Comissão de Estudos em 2019 foi a criação de um pelo grupo de trabalho, criado para atualização da norma, em 2019, foi para a verificação das tabelas de correntes suportáveis pelos cabos, quando foram identificados alguns valores superdimensionados incorretos, e a atualização das denominações de aterramento. Essas correções levaram à publicação de uma emenda em 2021, consolidando os ajustes necessários nos valores das correntes admissíveis nos cabos e permitindo que a ABNT publicasse a norma anterior em uma nova edição, incorporando apenas essas alterações pontuais.
Segundo o engenheiro eletricista e secretário da comissão técnica Comissão de Estudos responsável pela revisão, Marcos Rogério, o objetivo foi atualizar conceitos sem alterar a estrutura geral da norma. “A estrutura da revisão da norma procura manter sua organização e seções atuais, certos conceitos foram atualizados para refletir as normas IEC em especial, a IEC 61936:2021. Desta forma, as denominações internacionalmente usadas para designar os vários tipos de aterramento em MT foram incorporadas na revisão, tornando assim, a ABNT NBR 14039 compatível com as definições e terminologia da IEC 61936:2021” explica o especialista.
Integrante da Comissão de Estudos do grupo de trabalho, o engenheiro eletricista Alexandre

Transformar o setor energético com excelência e inovação. Garantindo a qualidade da distribuição da energia com segurança e sustentabilidade para todos os mercados. Macorin Energia, qualidade que impulsiona o futuro.
As mudanças
também alcançam os procedimentos de teste em cabos de média tensão, que evoluíram consideravelmente na última década. A revisão da ABNT NBR 14039 incorpora tecnologias mais seguras e modernas, como o método VLF (Very Low Frequency), que utiliza uma frequência ultrabaixa para detectar falhas de isolamento.
Pereira, ressalta que, embora o alinhamento com a estrutura da IEC 61936-1:2021 fosse o objetivo inicial, o comitê optou por preservar a estrutura da edição anterior da NBR 14039 (2003), garantindo que as particularidades do sistema elétrico brasileiro fossem consideradas. “Em 2020, estávamos trabalhando em um texto mais alinhado à IEC 61936, mas em algum momento daquele ano houve um redirecionamento para que o texto mantivesse seguisse a estrutura da ABNT NBR 14039 de 2003, incorporando apenas alguns trechos da IEC 61936:2021 e fazendo as atualizações necessárias”.
O dimensionamento de transformadores de corrente (TCs) é outro tema que sofrerá alterações na nova norma. Com a introdução dos relés digitais e IEDs (Dispositivo Eletrônico Inteligente), a carga nos secundários dos TCs tornou-se muito menor do que há 20 anos, quando predominavam relés eletromecânicos. Essas alterações, segundo Marcos Rogério, se devem ao caráter dinâmico das normas do setor elétrico.“É preciso compreender que as normas são documentos vivos, que devem refletir a evolução da técnica e as melhores práticas aplicáveis a cada contexto”, sintetiza.
Representando o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia (IBAPE-SP) na comissão, desde julho de 2021, Luis Otavio Rosa, explica que a atualização traz mais segurança, sem impactar diretamente no aumento de custos para o setor. “A revisão da norma não influencia diretamente novos projetos em relação a velocidade e maiores custos de implantação, mas certamente traz mais segurança para todos envolvidos. Novos materiais e componentes podem ter custos menores com as revisões da norma trazendo vantagens para novos projetos”, pontua.
As mudanças também alcançam os procedimentos de teste em cabos de média tensão, que evoluíram consideravelmente na última década. A revisão da ABNT NBR 14039 incorpora tecnologias mais seguras e modernas, como o método VLF (Very Low Frequency), que utiliza uma frequência ultrabaixa para detectar falhas de isolamento.
Paralelamente, a norma reforça a importância do dimensionamento correto dos cabos, uma das etapas mais complexas de uma instalação elétrica. Segundo João José Alves de Paula, engenheiro eletricista e membro da comissão desde 2019, “o dimensionamento da seção do condutor

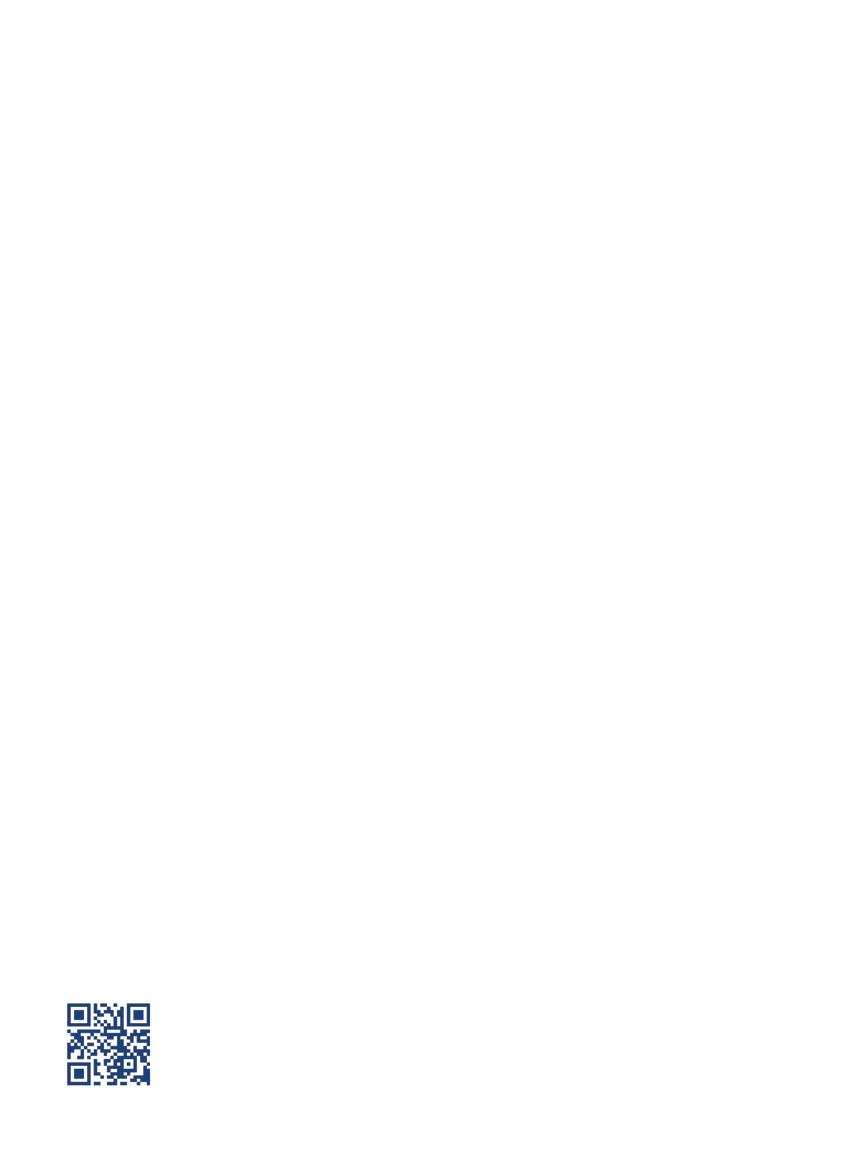
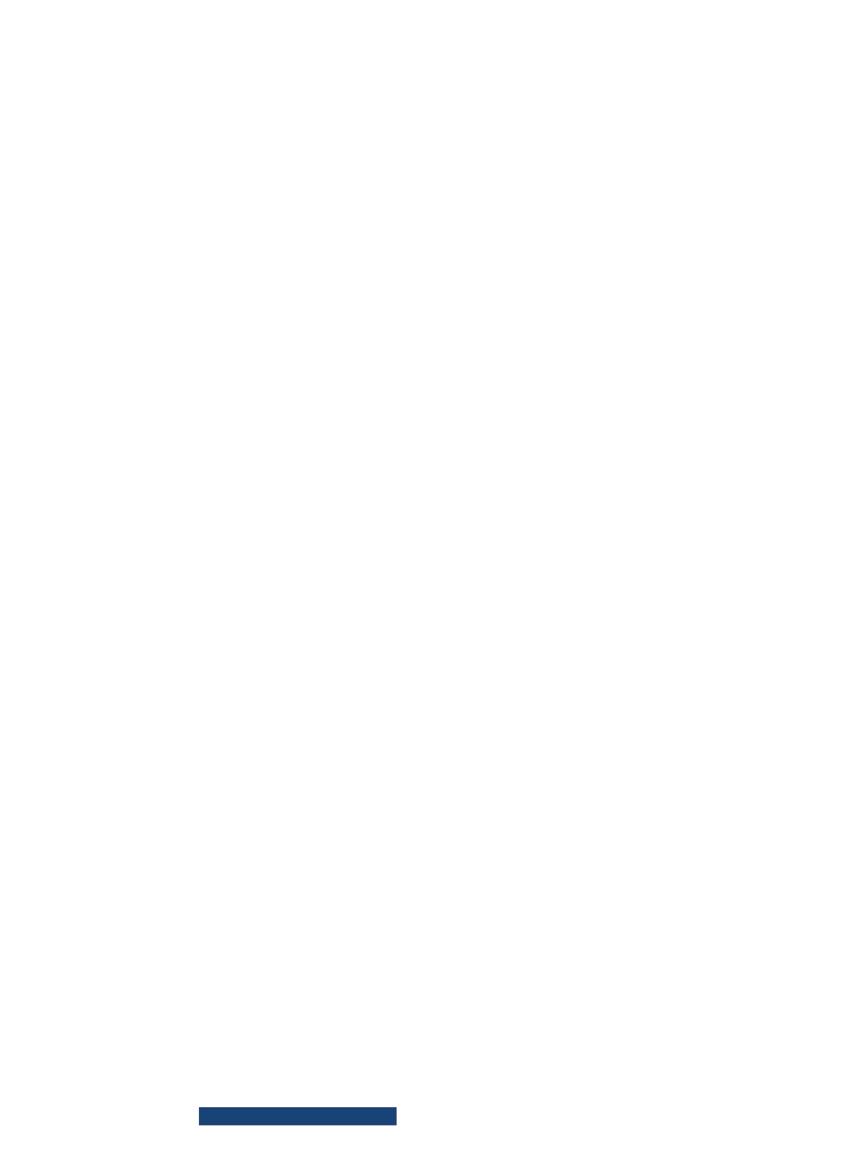

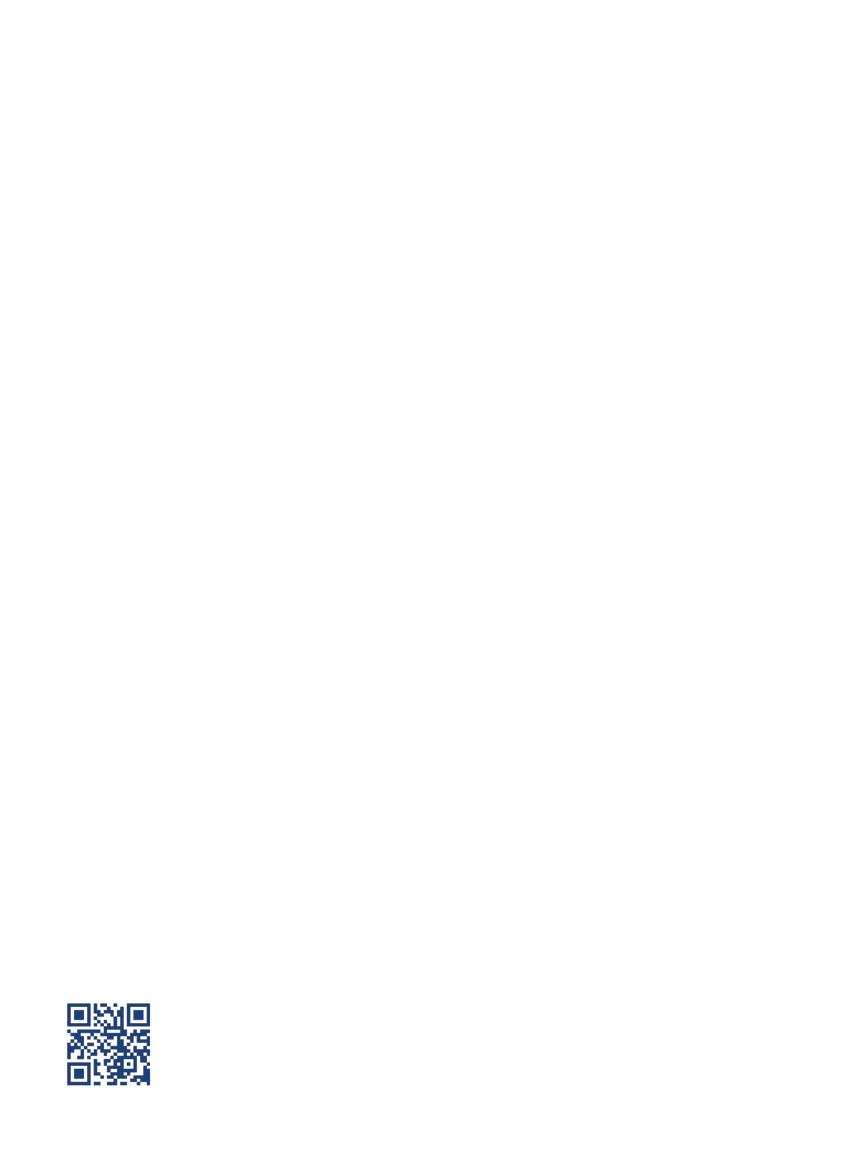
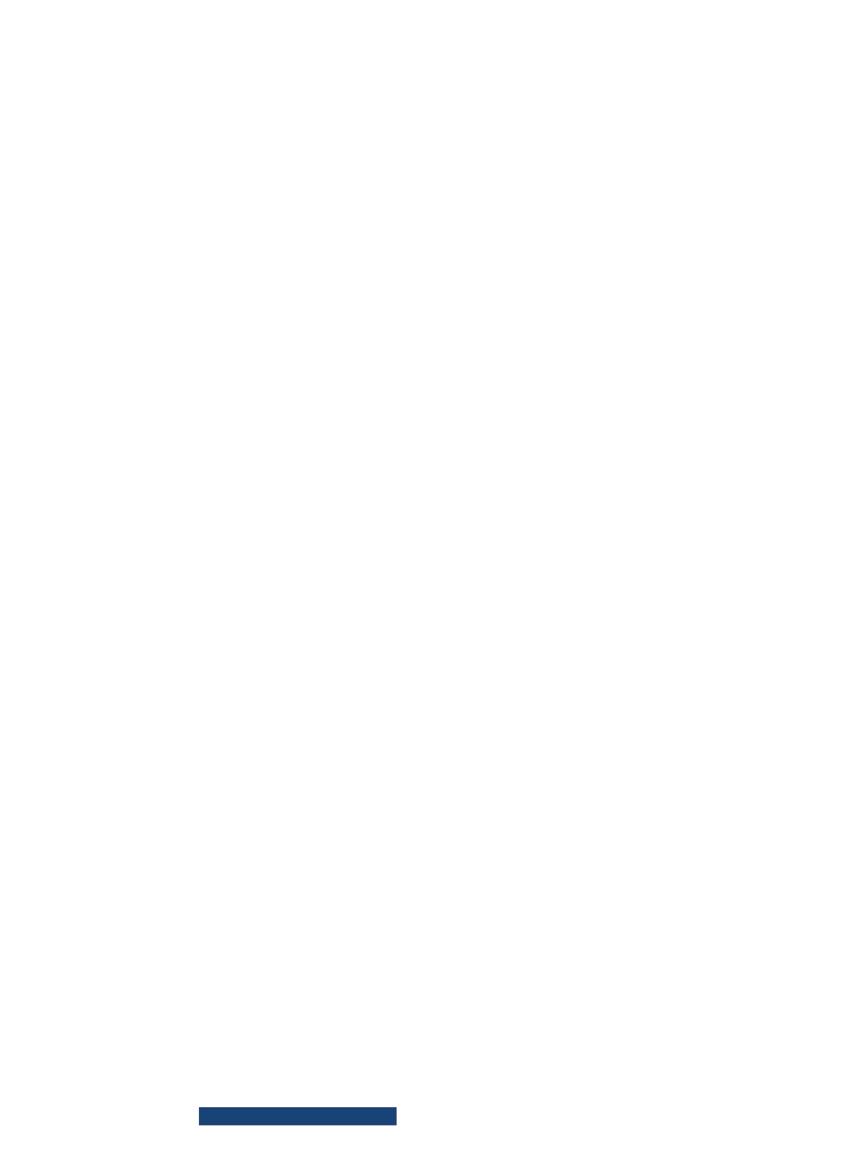
é o mais complexo, mas antes disso é preciso definir os materiais do condutor, a isolação e a cobertura, dimensionar a blindagem e, eventualmente, a armação metálica. Tudo isso exige conhecimento técnico que vai além do uso de tabelas ou softwares disponíveis no mercado”.
Ele explica que, antes da padronização por normas e da disponibilidade de softwares, os engenheiros aplicam metodologias baseadas em conhecimento consolidado. “Hoje, é cada vez mais difícil encontrar profissionais que compreendam os conceitos básicos, dada a facilidade de recorrer às tabelas, muitas vezes usadas de forma inadequada, ou ao uso de softwares, que nem sempre são plenamente compreendidos. Isso aumenta o risco de entradas incorretas gerarem resultados incorretos e ameaça a capacidade futura de atualizar ou criar novos programas”, afirma.
Grande parte dos cálculos atuais se apoia nas normas IEC 60287, especialmente nas partes 1-1, 2-1 e 2-2, complementadas pela antiga ABNT NBR 11301, de 1990, que apresenta obsolescências e omissões frente às normas IEC. Para apoiar a prática técnica, foi publicado um e-book gratuito intitulado Guia Média Tensão: Dimensionamento de Cabos – Cálculo da capacidade de corrente e fatores de correção dos valores para cabos isolados tabelados na norma ABNT NBR 14039:2021, que serve como referência e memória de cálculo para profissionais da área.
GERAÇÃO DISTRIBUÍDA
O crescimento acelerado da geração distribuída (GD) em paralelo com o sistema interligado exigiu atenção especial da Comissão de Estudos na atual do grupo de revisão da norma NBR 14039. A norma passa a incluir prescrições atualizadas dos sistemas de proteção elétrica, fundamentais para assegurar uma operação segura e confiável, garantindo a segurança das pessoas e a integridade das instalações, tanto das concessionárias quanto dos usuários. Segundo a comissão, essa atualização reflete a necessidade de acompanhar a expansão da GD e os desafios associados à integração dessas fontes ao sistema elétrico existente.
Para Marcos Rogério, a redação busca detalhar esse avanço, “o paralelismo dos GD (geração distribuída) com o sistema interligado tem crescido rapidamente, por isso a revisão da norma atualiza as prescrições com relação aos tipos de proteção
necessária para garantir uma operação segura tanto do ponto de visto da concessionária elétrica quanto do usuário”, afirma.
A participação de profissionais de concessionárias também trouxe contribuições relevantes para a revisão da NBR 14039. Um exemplo é a atuação de Danielle Menezes, engenheira sênior da Light e membro da comissão desde fevereiro de 2024, “apesar das concessionárias terem a prerrogativa de definir padrões para cabines primárias de entrada de energia em conexão primária, participar da Comissão demonstra a busca pela sinergia com as melhores práticas nela estabelecidas”.
Segundo Danielle, a experiência das distribuidoras têm contribuído para ajustes importantes, especialmente em comissionamentos do sistema de proteção. “Implementamos melhorias, como a realização de injeção de corrente pelo primário dos TCs de proteção, para verificar a relação do TC e o correto fechamento, leitura e atuação pelo neutro. Também indicamos a necessidade de desmistificar o uso do critério de 20xIn para dimensionamento dos TCs de proteção; na prática, a tensão de saturação do TC deve ser calculada”, explica.
Ela ressalta ainda que equilibrar as exigências técnicas da norma com a viabilidade prática e econômica é um dos maiores desafios, dada a diversidade regional. “A decisão final é sempre da maioria, mas o foco principal é a segurança das instalações”, diz Danielle.
O processo de revisão da ABNT NBR 14039 segue um cronograma definido pela Comissão de Estudos pelo comitê técnico, com a meta de finalizar o texto até abril de 2026. Após essa etapa, o projeto será enviado à ABNT para publicação em Consulta Nacional, permitindo que a comunidade técnica e o setor elétrico se manifestem sobre o conteúdo. A expectativa é que, após a análise da consulta e aprovação final, a revisão da norma seja oficialmente publicada em outubro de 2026, trazendo atualizações que alinham os procedimentos brasileiros às melhores práticas internacionais e às evoluções da engenharia elétrica.
SILNAX 0,6/1 kV HEPR 90 °C
E ATOXSIL 0,6/1 kV 90 °C
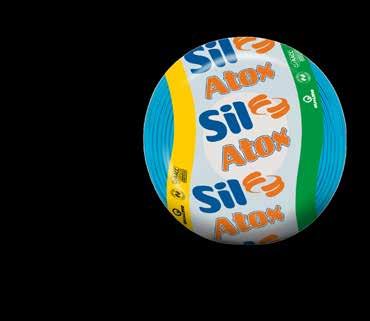
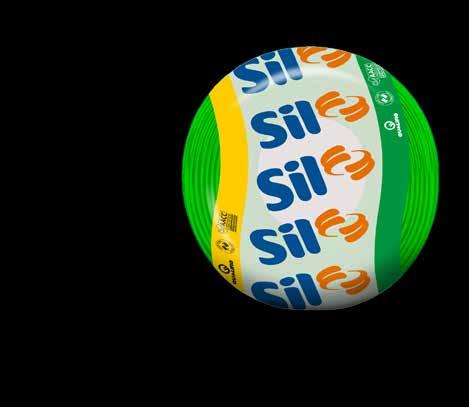

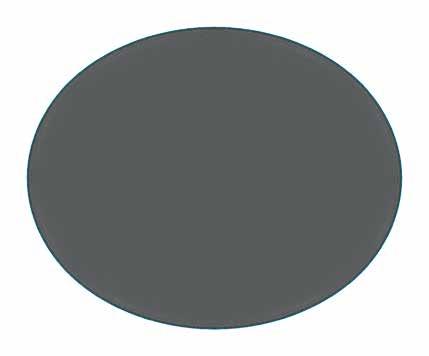

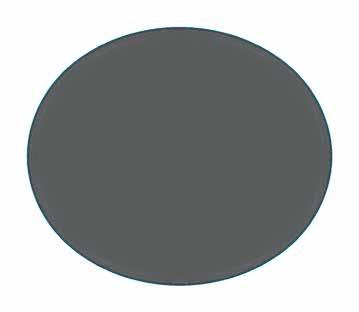

Na Sil, nosso compromisso é oferecer soluções que tornam as instalações elétricas mais seguras, eficientes e confiáveis. Estamos sempre em evolução, investindo em tecnologia e nas melhores práticas do setor para garantir desempenho, qualidade e tranquilidade em cada projeto.


EMPRESA
13F ENGENHARIA
ABT ENERGIA
AC/DC SERVIÇOS
AC3 TECNOLOGIA
AÇÃO ENGENHARIA E INSTALAÇÕES
ACR TECNOLOGIA
ACTEMIUM (SISNERGY)
AGILITA ENGENHARIA
ALPHA ELÉTRICA ENGENHARIA
ALTUM ENERGIA
ALUMBRA MATERIAIS ELÉTRICOS
ANEI SOLUÇÕES TÉCNICAS
APROT ENGENHARIA
AZUL ENGENHARIA DE ENERGIA
AZZET
B.E.G. BRASIL
BB&E ENGENHARIA E CONSULTORIA
BCM AUTOMAÇÃO
BETIN ENERGIA
BIP CONSULTORIA
BORBA ENERGIAS RENOVÁVEIS
BORNHAUSEN ENGENHARIA
BREZEK ENGENHARIA
C&F ENGENHARIA
CAPPUA ENGENHARIA
CCR MONTAGENS INDUSTRIAIS
COMERCIAL COMAG
COMPROTEC
CONECT CONSULTORIA
CONFORMETEC
CONSTEC
CPE - ESTUDOS E PROJETOS
DART TECNOLOGIA
DEFAR ENGENHARIA
DELTA PERFILADOS
DRIVE ENGENHARIA
ECONOENERGIES SOLUTIONS
EFI ENERGY ENGENHARIA
EFICIENTIZA SOLUÇÕES
EHM INSTALAÇÕES
Telefone
(62) 99932-0769 (51) 99977-2049 (31) 3411-7108 (71) 98106-0325 (11) 3883-6050 (48) 98405-9697 (31) 99762-9911 (15) 97403-7703 (11) 91301-9220 (51) 99534-6227 (11) 4393-9300 (34) 3268-2033 (11) 2537-9812 (79) 3024-3079 (51) 99644-4171 (19) 99488-1501 (81) 99230-6497 (51) 3374-3899 (19) 99614-6082 (47) 99617-4475 (11) 99116-3585 (47) 99791-3641 (41) 99663-1159 (49) 99107-5665 (51) 98211-2080 (65) 3359-5691 (31) 3025-4250 (61) 99529-4879 (31) 99988-5556 (16) 3524-8327 (77) 99976-4926 (85) 99973-2326 (71) 99669-1313 (54) 99652-4429 (11) 99607-8700 (51) 3126-8232 (64) 99282-8068 (41) 3503-9652 (34) 99809-0148 (11) 3976-9922
Site
www.i3f.tec.br www.abtenergia.com.br www.grupoacdc.com www.ac3.art.br www.acaoengenharia.com.br www.acrtecnologia.srv.br www.actemium.com.br www.agilitaengenharia.com www.alphaeletrica.com.br www.altumenergia.com.br www.alumbra.com.br www.eletrotil.com.br www.aprotengenharia.com www.azulenergia.com www.azzet.page www.beg-luxomat.com www.bbe.eng.br www.bcmautomacao.com.br www.betinenergia.com.br www.bipbrasil.com.br/ www.borba.emp.br www.bornhausen.com.br www.brezek.com.br www.cf-engenharia.com www.cappuaengenharia.com.br/ www.ccr.eng.br www.comercialcomag.com.br www.comprotec.com.br www.conectconsult.com.br www.conformetec.com
www.cpe-ce.com.br www.darttecnologia.com.br www.defarengenharia.com.br www.deltaperfilados.com.br www.driveengenharia.com.br www.econoenergies.com.br www.efienergy.com.br www.eficientiza.com www.ehm.com.br
Brasília
Porto Alegre
Belo Horizonte
Lauro de Freitas
São Paulo
Florianópolis
Contagem
Sorocaba
São Paulo
Porto Alegre
São Bernardo do Campo
Ituiutaba
São Paulo
Aracaju
Porto Alegre
Campinas
Camacari
Porto Alegre
Campinas
São Paulo
Santo André
Gaspar
Campo Largo
Joaçaba
Canoas
Cuiabá
Belo Horizante
Brasilia-df
Belo Horizonte
Sertãozinho
Santa Maria da Vitória
Fortaleza
Salvador
Farroupilha
Santana de Parnaiba
Porto Alegre
Goiânia
Curitiba
Patos de Minas
São Paulo
Atividade da empresa
Nesta edição, destacamos um levantamento setorial sobre empresas de engenharia, consultoria e projetos elétricos, que desempenham papel decisivo na preparação para instalações e no planejamento estratégico de sistemas. Esse segmento é responsável por antecipar demandas, dimensionar soluções e garantir que cada etapa do processo elétrico seja realizada com eficiência, segurança e alinhamento às necessidades de residências, comércios e indústrias.
Fotovoltaica e Recursos Energéticos Distribuídos
Proteção Contra Descargas Atmosféricas
Comercial
Industrial
Geração de energia
Transmissão de energia
Concessionárias de energia elétrica
Indústria em geral
Instaladoras
Outras empresas de engenharia
Empresas de manutenção
Fabricantes de produtos e equipamentos elétricos
Comércio
EIMA MATERIAIS ELÉTRICOS
EJH ENGENHARIA
ELABORAR ENGENHARIA & PROJETOS
ELECTRIC CONSULTORIA
ELECTRISA
ELEKTRENG ENG. E CONSULTORIA
ELÉTRICA PARANHAMA
ELETRIUM COMÉRCIO
ELETRO DELTA
ELETROALTA ENGENHARIA
ELETROFERRO
ELETRON ENGENHARIA
ELETROSOLAR & CLIMATIZAÇÃO
ELETROSOLAR ENGENHARIA
ELETROVASF
ELFSM
ELOS ELETROTÉCNICA
EMBRASUL
EN.SIS ENGENHARIA E SISTEMAS
ENERGO ENGENHARIA
ENGECRIM ENGENHARIA
ENGEPARC ENGENHARIA
ENGEPOWER
ENGETEC
ENGETRON
ENGEWARY ENGENHARIA
ENGISOL ENGENHARIA
ENGSUN ENGENHARIA E PROJETOS
ENPREL ENGENHARIA
ENS PROJETOS
ESCALA
ESCO ENERGY
ESTRELA GERADORES
EWC ALTA TENSÃO
EXCENGE
FACILITAS ENGENHARIA
FASTTEL ENGENHARIA
FASTWELD
FILIPPON ENGENHARIA
FORZA EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
GEROLIN ENGENHARIA
GETEC PROJETOS
GOMES ENGENHARIA
GRUNNER ENERGIA
GRUPO INSTALO
GRUPO SETTA
GSI - ENGENHARIA E CONSULTORIA
HEILIND ELECTRONICS BRASIL
HERNASKI ENGENHARIA
Telefone
EMPRESA (37) 3237-6355 (21) 99636-1067 (31) 99246-6406 (51) 3095-8200 (11) 97543-0772 (71) 99121-1609 (51) 99841-5432 (31) 3511-8558 (37) 99828-9629 (16) 99725 4514 (11) 2408-2221 (12) 99163-9377 (74) 99147-1780 (71) 99722-7152 (87) 3024-8684 (27) 3721-4968 (41) 3383-9290 (51) 3358-4000 (11) 3390-3635 (85) 99715-4843 (92) 98115-9748 (31) 3295-5211 (11) 3579-8777 (27) 99639-6198 (31) 3514-5800 (21) 3253-0190 (61) 4042-0064 (12) 99141-2350 (11) 3729-7099 (65) 99942-6289 (31) 98889-3578 (31) 3273-1001 (31) 98403-1536 (65) 99268-6539 (21) 2610-0826 (71) 3561-8501 (41) 3278-4433 (11) 2423-2430 (51) 99712-4264 (41) 99891-7236 (34) 99226-0198 (54) 99646-1988 (11) 3951-3522 (27) 98157-0018 (41) 3333-6262 (34) 3826-7800 (12) 3621-9269 (11) 3017-8797 (41) 99642-6669
Site
www.eima.com.br www.ejh.com.br www.elaborar.eng.br www.electricservice.com.br www.electrisa.com.br www.elektreng.com.br www.paranhama.com.br www.eletrium.com.br www.eletrodeltasolucoes.com.br www.eletroalta.com.br www.eletroferro.com.br www.eletronengenhariaindustrial.com www.eletrosolarba.com.br www.eletrosolar.eng.br www.eletrovasf.com.br www.elfsm.com.br www.elos.com.br www.embrasul.com.br www.ensis.com.br www.energo.eng.br www.engecrim.com.br www.engeparc.com.br www.engepower.com
www.engetron.com.br www.engewary.com.br www.engisol.com.br www.engsun.com.br www.enprel.com.br
www.escalaengenharia.eng.br www.escoenergy.com.br www.forcaeletrica.com.br www.ewclt.com.br www.excenge.com.br www.facilitasengenharia.com.br www.fasttel.com.br www.fastweld.com.br www.filipponengenharia.com.br www.forza-ind.com.br www.gerolin.com.br www.getec1.com.br www.gomesengenharia.com.br www.grunner.com.br www.instalo.com.br www.gruposetta.com www.gsiconsultoria.com.br www.heilind.com.br www.hernaskiengenharia.com
Atividade da empresa
Cidade
Pará de Minas
Rio de Janeiro
Belo Horizonte
SP, PA e Cuiabá
São Paulo
Bahia
Parobé
Betim
Arcos
Ribeirão Preto
Guarulhos
Pindamonhangaba
Andorinha
Salvador
Petrolina
Colatina
São José dos Pinhais
Porto Alegre
São Paulo
Fortaleza
Manaus
Belo Horizonte
Barueri
Linhares
Contagem
Rio de Janeiro
Brasília
Lorena
São Paulo
Cuiabá
Belo Horizonte
Belo Horizonte
Belo Horizonte
Campo Novo do Parecis
Niteroi
Salvador
Curitiba
Guarulhos
Porto Alegre
Curitiba
Uberaba
Garibaldi
São Paulo
Vila Velha
Curitiba
Patos de Minas
Taubaté
São Paulo
Guaratuba
Engenharia e Consultoria Elétrica
Instalação e Manutenção Elétrica Nenhuma das opções acima
Fiscalização de obras
Fotovoltaica e Recursos Energéticos Distribuídos
Proteção Contra Descargas Atmosféricas
Eólica
Geração de energia
Transmissão de energia
Distribuição de energia
Outras empresas de engenharia
Fabricantes de produtos e equipamentos elétricos
9001 (qualidade)
14001 (ambiental)
Programas na área de responsabilidade social
Especifica produtos, equipamentos, componentes, fornecedores x
Compra produtos, equipamentos, componentes, etc.
EMPRESA
HOYT ENGENHARIA INTEGRADA
HUB SOLAR ENGENHARIA
I3M ENGENHARIA
IDG ENGENHARIA
IMCIL
INTELLI STORM
JABATEC
JTR ENGENHARIA
KASCHER ENGENHARIA
KM ENGENHARIA
L3 SOLUÇÕES
LEFEE
LETECH ENERGIA
LIGHT ENGENHARIA
LOJA ELETRICA
LPENG ENGENHARIA
LUMENS
LVG PARA RAIOS
M&W ENERGY
MAEX ENGENHARIA
MAQUIMP
MASZTER ENGENHARIA E CONSULT.
MAXWELL ENGENHARIA E CONSULT.
MEME_AUTOMAÇÃO
MJ INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO
MPA ENGENHARIA COM. E SERVIÇO
NEFAG ENGENHARIA
NEW SOL ENERGIA
NOBREAKSUL SISTEMA DE ENERGIA
NOVATEC
O3K ENGENHARIA E CONSULTORIA
OMEGA CONSTRUTORA E SERVIÇOS
OPG ENGENHARIA
PAIOL ENGENHARIA
PONTO ENGENHARIA
POTENCIAL ENGENHARIA
POVOLSKI IND.
POWER ON TECNOLOGIA
PQR MA2 ENGENHARIA
PREAMAR PROJETOS
PRIME PROJETOS E CONSULTORIA
PROJETIVA ENGENHARIA
PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
QT ENERGIA
QUALITY ENGENHARIA E CONSULT.
R&DAMASCO SOLUÇÕES INDUSTRIAIS
R2 SERVIÇOS ELÉTRICOS
RAMASINE ENGENHARIA
RETA ENGENHARIA
Telefone
(47) 98844-7796 (31) 99984-9863 (92) 2126-4713 (31) 3285-1661 (11) 95026-6226 (16) 98171-9871 (32) 98884-6562 (11) 99975-5220 (31) 3481-7811 (71) 9914-5554 (51) 98650-4419 (41) 4040-4676 (21) 2391-3193 (37) 99184-0163 (31) 3218-8000 (11) 2901-7033 (31) 3286-0189 (51) 99301-3512 (31) 98445-1543 (19) 99510-2686 (11) 2802-9002 (12) 99718-3236 (51) 99747-9977 (64) 99660-9197 (21) 2463-2636 (19) 99672-3457 (11) 99701-3597 (62) 98137-7335 (51) 3573-3690 (11) 4040-6688 (19) 98198-5138 (65) 99997-8287 (51) 99683-7516 (19) 3844-4488 (22) 99203-3225 (51) 3222-6459 (11) 97394-6169 (11) 3327-5952 (11) 5579-0660 (91) 99200-7290 (61) 99827-8387 (47) 98484-4866 (31) 99970-8117 (85) 98134-4570 (71) 3341-1414 (11) 94617-3000 (11) 99746-4649 (41) 99660-5536 (31) 99884-8719
Site
www.hoyt.eng.br www.hubsolarengenharia.com.br www.i3m.com.br www.idgengenharia.com www.imcil.com.br www.intellistorm.com.br www.jabatec.com.br www.jtrengenharia.com.br www.kascher.com.br
www.l3engenhariaeletrica.com.br www.engetecnica.com.br www.letech.com.br www.englight.com.br www.lojaeletrica.com.br www.lpeng.com.br www.lumensengenharia.com.br www.lvgpararaios.com www.mwenergy.com.br www.maex.com.br www.maquimp.com.br www.masztereng.com.brwww.memeautomacao.com.br www.mjinstalacao.com.br www.mpaeletricidade.com.br www.nefag.com.br www.newsolenergia.com.br www.nobreaksul.com.br www.novatec.eng.br www.o3kengenharia.com.br www.omegaconstrutoramt.com.br www.opgengeconsult.com.br www.paiolengenharia.com.br www.pontoengenharia.com.br www.engpotencial.com.br www.povolski.com www.powerontech.net www.pqrma2.com www.preamar.eng.br www.primeprojetos.com www.projetivaengenharia.com.br www.psoengenharia.com.br www.qtenergia.com.br www.qualityltda.com.br www.rdamasco.com.br www.r2eletrica.com www.ramasineengenharia.com.br www.retaengenharia.com.br
Cidade
Blumenau
Belo Horizonte
Manaus
Belo Horizonte
São Paulo
Orlândia
Juiz de Fora
São Paulo
Belo Horizonte
Salvador
São Leopoldo
Curitiba
Rio de Janeiro
Bom Despacho
Belo Horizonte
Aruja
Belo Horizonte
Porto Alegre
Belo Horizonte
São Paulo
São Paulo
São José dos Campos
São Leopoldo
São Simão
Rio de Janeiro
Limeira
Jundiai
Goiânia
Porto Alegre
São Paulo
Piracicaba
Cuiabá
Porto Alegre
Paulinia
Rio das Ostras
Porto Alegre
Sumaré
Sorocaba
São Paulo
Belém
Distrito Federal
Blumenau
Ipatinga
Fortaleza
Salvador
Sorocaba
São Roque
Curitiba
São Paulo
Telecomunicações
Fotovoltaica e Recursos Energéticos Distribuídos
Proteção Contra Descargas Atmosféricas
Eólica
Geração de energia
Transmissão de energia
Distribuição de energia
Concessionárias de energia
Instaladoras
Outras empresas de engenharia
Programas na área de responsabilidade social
Especifica
Compra produtos, equipamentos, componentes, etc.
Telefone
REVIMAQ
RGF ENGENHARIA E CONSULTORIA
RVR ELÉTRICA
SCJ ENGENHARIA SERVITEC
SIEGER
SIEMENS BRASIL
SM&A
SN DISJUNTORES
SOLFUS ENGENHARIA
SPENGEL ENGENHARIA
STAE ENGENHARIA
SUNLIGHT ENGENHARIA TECPRO
TECSAM TECNOLOGIA ELÉTRICA
TECTERRA GEOTECNOLOGIAS
TEKSA ENGENHARIA
TELLUS
TERMOTÉCNICA
TESLA SOLUÇÕES
THS COMPONENTES ELÉTRICOS
TRISTAO ENGENHARIA
VALLE & OTTO ENG. ASSOCIADOS
VARIXX
VIABILE ARQUITETURA + ENG.
VIVO ENGENHARIA
VLTZ VOLTZ PROJETOS
WOTTI ELÉTRICA
WV ENGENHARIA E PROJETOS
XAVIER PAIM SISTEMAS DE ENERGIA
EMPRESA (11) 4531-8181 (11) 3831-0732 (31) 99550-3079 (41) 98460-4969 (91) 98843-0749 (21) 99859-1588 (11) 98860-8020 (31) 3292-5113 (31) 99912-3655 (41) 98405-1354 (51) 99370-6505 (81) 99831-1319 (66) 99716-1631 (11) 96224-1806 (85) 99972-8606 (31) 2531-6665 (51) 99864-0064 (61) 99205-7835 (11) 5197-4000 (11) 98785-0275 (15) 99802-4788 (27) 98134-6480 (47) 99773-1142 (19) 98377-0036 (31) 98464-3313 (31) 99149-4334 (62) 98171-2353 (31) 99100-7995 (31) 98680-3189 (71) 3082-5501
Site
www.revimaq.com www.rgfengenharia.com.br www.rvreletrica.com.br scjengenharia.com.br www.servitec.eng.br www.siegereng.com.br www.siemens.com/br/pt www.sma-eng.com.br www.sndisjuntores.com.br www.solfus.com.br www.spengel.com.br www.staeengenharia.com.br www.sunlightsolucoes.com.br www.tecproenergia.com.br www.tecsam.com.br www.tecterra.com.br www.teksaengenharia.com.br www.tellus.tec.br www.tel.com.br www.teslasolucoes.com.br www.thscomponentes.com.br www.tristaoengenharia.com.br www.valleotto.eng.br www.varixx.com.br www.viabile.com.br www.vivoengenharia.com.br www.voltzprojetos.com.br www.wotti.com.br www.engwelitonvieira.com.br www.xavierpaim.com.br
Cidade
Jundiaí
Fortaleza - Ceará
das
Belo Horizonte
Belo Horizonte
Goiânia
Belo Horizonte
Belo Horizonte Salvador


Fotovoltaica e Recursos Energéticos Distribuídos
Proteção Contra Descargas Atmosféricas
Eólica
Geração de energia
Distribuição de energia
área
Compra produtos, equipamentos, componentes, etc.

Aline Cristiane Pan é Doutora em Energia Solar Fotovoltaica e Professora na UFRGS, onde coordena o Grupo de Pesquisa em Transição Energética. Co-fundadora da Rede Brasileira de Mulheres na Energia Solar, tem mais de 25 anos de experiência no setor.
No dia 28 de agosto de 2025, a Intersolar South America recebeu a edição comemorativa do “Elas Conectam” (Fig.1), iniciativa da Rede Brasileira de Mulheres na Energia Solar (MESol), que completa cinco anos de presença ininterrupta na maior feira de energia solar da América Latina. O evento reafirmou a importância da inclusão e da equidade de gênero como pilares estratégicos para a transição energética. Desde sua primeira edição, em 2019, o Elas Conectam conta com o apoio fundamental da Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, da The smarter E South America e da Parceria Energética Brasil-Alemanha, que reconheceram desde cedo a relevância de se construir um espaço de protagonismo feminino em um dos setores mais dinâmicos da economia brasileira.
A abertura, conduzida por Renata Mansuelo (Rede MESol), destacou números que retratam a atual realidade das mulheres no setor. Apesar dos avanços conquistados, ainda é evidente a falta de representatividade feminina nos setores técnicos, mesmo entre aquelas que participam de redes profissionais de energia. O diagnóstico reforça que é preciso continuar insistindo em espaços de debate e formulação de políticas que considerem a equidade como elemento estruturante.
O POTENCIAL DAS MULHERES NA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
O painel “Mais Mulheres, Mais Energia: Mão de Obra Qualificada em Falta & o Potencial das Mulheres na Transição Energética” trouxe contribuições fundamentais. Márcia Figueiredo (Coordenadora do COMGEV/MME) e Amora Vieira (Diretora do CTGAS-ER/SENAI-RN) ressaltaram que tanto o Ministério de Minas e Energia quanto o SENAI têm atuado para suprir o déficit de mão de obra qualificada, com dados, formação profissional e inovação. Ambas enfatizaram que as mulheres não são apenas parte da solução: elas são estratégicas para o futuro energético brasileiro.
COP30: JUSTIÇA CLIMÁTICA E INCLUSÃO
O painel seguinte, “Mulheres, Energia e Justiça Climática”,


Fig. 1. Evento Elas Conectam da Rede
no
em São Paulo conectou a agenda de gênero ao debate global. Amanda Teles (Instituto de Direito Global) trouxe reflexões sobre a Amazônia, defendendo a inclusão de povos indígenas e territórios tradicionais como protagonistas da transição energética justa. Já eu compartilhei experiências do projeto Energizando a Equidade, que atua com meninas do 9º ano do ensino fundamental, estimulando vocações e garantindo que as próximas gerações estejam inseridas desde cedo nessa discussão. Afinal, se essas meninas não participarem, continuaremos reproduzindo a exclusão que marcou o setor no passado.
UM LEGADO QUE SE FORTALECE
O Elas Conectam não é mais um espaço paralelo: tornou-se um marco estruturado de transformação. Nestes cinco anos, vimos a evolução de um evento que começou como resistência e hoje é referência de diversidade e inovação. A cada edição, redes se ampliam, conexões se fortalecem e novas lideranças emergem.
Mais do que um evento, o Elas Conectam representa um compromisso coletivo: a transição energética só será justa, sustentável e inovadora se incluir mulheres, jovens e comunidades diversas.
E é justamente essa convicção que faz com que, cinco anos depois, a Rede MESol siga mostrando que quando mulheres se conectam, o setor inteiro se transforma.

Luciano Rosito é engenheiro eletricista, especialista em iluminação e iluminação pública. Professor de cursos de iluminação pública no Brasil e exterior.
o dia 28 de agosto de 2025, no auditório do SESI na cidade de Bauru foi realizado o primeiro de uma série de eventos da Associação KNX Brasil. Para quem não está familiarizado, o KNX é um protocolo que foi criado em 1999 através da fusão de três protocolos de automação predial europeus. A Associação KNX é uma organização sem fins lucrativos que gerencia e promove o padrão mundial. Reúne fabricantes e prestadores de serviços que desenvolvem dispositivos para controle de iluminação, climatização, segurança, energia e muito mais. A Associação Nacional KNX no Brasil é parte da Associação KNX Internacional que apoia e dá suporte a todas as atividades e iniciativas no Brasil assim como em outros países
Além de definir as especificações técnicas do protocolo KNX, a Associação KNX também certifica produtos e centros de treinamento, garantindo a interoperabilidade entre diferentes dispositivos e marcas de produtos. Cabe destacar a amplitude e alcance do KNX no mundo, sendo um dos principais protocolos de automação.

Figura 1 – Presença internacional do KNX. Mais de 190 países, mais de 500 fabricantes e milhares de produtos.
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir do Google Trends.
O protocolo KNX garante a interoperabilidade entre diferentes fabricantes e dispositivos, permitindo que sistemas de iluminação, climatização, segurança, energia, áudio e vídeo sejam integrados em uma única plataforma. Com mais de 500 membros, 8000 produtos, 500 centros de treinamento e 100.000 KNX partners, destacamos abaixo os benefícios do KNX :
BENEFÍCIOS DA TECNOLOGIA
· Integração universal – Dispositivos de diferentes marcas conversam entre si.
· Eficiência energética – Redução do consumo e dos custos operacionais.
· Escalabilidade e flexibilidade – Sistemas que acompanham o crescimento do prédio.
· Segurança e confiabilidade –Descentralizada, sem risco de falha em controlador único.
· Compatibilidade com IoT e inteligência artificial – Preparação para o futuro digital.
· Valorização do investimento – Instalações certificadas elevam o valor do imóvel.
A integração universal entre dispositivos de diferentes marcas é um aspecto fundamental da automação predial moderna, permitindo uma comunicação fluida e eficiente entre sistemas diversos.
A escalabilidade e flexibilidade dos sistemas de automação predial são cruciais para acompanhar o crescimento e as mudanças nas necessidades do empreendimento ao longo do tempo. Essa adaptabilidade é complementada pela segurança e confiabilidade oferecidas por uma arquitetura descentralizada, que minimiza o risco de falhas generalizadas. Além disso, a compatibilidade com tecnologias emergentes como IoT e inteligência artificial prepara o edifício para futuras inovações digitais.
A automação e o controle da iluminação utilizando a combinação dos protocolos KNX e DALI representam um avanço significativo na gestão de edifícios inteligentes. O KNX, padrão aberto para automação predial, oferece uma plataforma robusta para integração de diversos sistemas, enquanto o DALI (Digital Addressable Lighting Interface) proporciona um controle preciso e flexível da iluminação.
A implementação desses sistemas resulta em múltiplos benefícios tangíveis. A redução do consumo energético é alcançada através de estratégias como o aproveitamento da luz natural, o ajuste automático da iluminação e o desligamento de luzes em áreas desocupadas. A diminuição da demanda de energia contribui para o sistema elétrico e resulta em economias significativas nos custos operacionais. Além disso, a adoção dessas tecnologias alinha-se com os critérios de diversas certificações de sustentabilidade e eficiência energética, como LEED, BREEAM e WELL, aumentando o valor do imóvel e sua atratividade no mercado.
Os próximos eventos do KNX Road Show acontecerão nas cidades de Curitiba, São Leopoldo, Gravataí, Belo Horizonte, Brasília e São Paulo durante o ano de 2025. Para maiores informações siga a KNX Brasil nas redes sociais e faça parte deste grupo que está trazendo o melhor da automação para o Brasil. A associação KNX do Brasil tem como presidente a Sra. Leila Oliveira, Vice-Presidente Roberto Godoy Fernandes, Diretoria de Marketing Bruno Hessel e Secretária-geral Luciano Rosito.
*Artigo produzido por Luciano Rosito e Roberto Godoy Fernandes, membros fundadores da Associação KNX Brasil, em conjunto com Leila Oliveira e Bruno Hessel.
Frederico Boschin é Diretor Executivo da Noale Energia e Sócio da Ferrari Boschin Advogados. Conselheiro da ABGD; Conselheiro Fiscal do Sindienergia RS e Professor dos Cursos de MBA da PUC/RS e PUC/MG.
Aliberalização do mercado de energia elétrica no Brasil está avançando, permitindo que cada vez mais consumidores escolham seus próprios fornecedores de energia, em vez de ficarem restritos à distribuidora local, no chamado mercado cativo.
Essa mudança, que já é uma realidade em diversos países, promete maior competitividade, inovação nos serviços e a possibilidade de preços mais atraentes para os consumidores, especialmente os residenciais, que seriam a última fronteira dessa “abertura de mercado”.
A discussão, porém, não é novidade. Em 2024, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e o Ministério de Minas e Energia (MME) avançaram na regulamentação do mercado livre para todos os consumidores do Grupo A — aqueles com tensão igual ou superior a 2,3 kV — independentemente da demanda de energia. Essa medida resultou em um crescimento expressivo: mais de 28 mil migrações para o mercado livre em 2024, um número cerca de 18 vezes maior do que o registrado em 2014.
Recentemente, o Ministério de Minas e Energia (MME) publicou a Portaria MME nº 862/20251 que abriu a Consulta Pública nº 196/20252. Todo esse procedimento é amparado pela Nota Técnica Nº 13/2025/SE3 que traz os fundamentos jurídicos, regulatórios e operacionais para a abertura do mercado de energia elétrica a consumidores de baixa tensão, ou seja, aqueles atendidos por tensão inferior a 2,3 kV e das regras de exercício do Supridor de Última Instância (SUI).
O documento, que faz parte do processo de implementação da Medida Provisória (MPv) nº 1.300/2025 e visa garantir um ambiente seguro e confiável para que consumidores residenciais, comerciais e pequenas indústrias possam escolher livremente seu fornecedor de energia.
A regulamentação da matéria busca definir, entre outros aspectos (I) as condições para a migração dos consumidores atendidos em baixa tensão para o Ambiente de Contratação Livre (ACL); (II) a antecedência mínima para a solicitação de retorno desses consumidores para o Ambiente de Contratação Regulada (ACR); e (III) as regras para o exercício do Supridor de Última Instância (SUI), incluindo as responsabilidades do SUI e as condições para a utilização dessa forma de suprimento emergencial e temporária.
O próximo passo no processo de liberalização é a abertura do mercado para os consumidores de baixa tensão, como residências e
1 https://consultas-publicas.mme.gov.br/c03975c6-8f9e-41c6-b7df-19f141a8e451
2 https://consultas-publicas.mme.gov.br/home
3 https://consultas-publicas.mme.gov.br/ece6a3aa-3c29-4c62-99a3-91b290340690

pequenos comércios e indústrias, que atualmente ainda dependem de tarifas reguladas pela ANEEL. Tal processo ocorreria em duas etapas:
1 - A partir de 1º de agosto de 2026 para consumidores comerciais e industriais.
2 - A partir de 1º de dezembro de 2027 para os demais consumidores de baixa tensão, incluindo os residenciais.
Para que essa transição ocorra de maneira segura e organizada, a ANEEL propõe uma série de medidas regulatórias, que incluem a criação de um Supridor de Última Instância (SUI) e a regulamentação do Open Energy. O Supridor de Última Instância (SUI). O SUI é um mecanismo fundamental para dar segurança aos consumidores que migrarem para o mercado livre. Ele será responsável por garantir o fornecimento de energia de forma emergencial e temporária em situações de falha contratual, inadimplência ou falência do fornecedor original.
A Proteção e o Empoderamento do Consumidor. Um dos maiores desafios da abertura de mercado é garantir que o consumidor, especialmente o de menor consumo, tenha as ferramentas necessárias para tomar decisões informadas. Nesse sentido, o Ministério de Minas e Energia, em conjunto com a ANEEL, propõe diversas iniciativas:
a - Open Energy: Um sistema que permitirá aos consumidores acessarem e compartilhar seus dados de consumo com outras empresas, com seu consentimento prévio, promovendo um ambiente de concorrência mais justo.
b - Simplificação da migração: O processo de migração para o mercado livre será simplificado e padronizado, reduzindo entraves burocráticos e prazos excessivos.
c - Combate a práticas anticompetitivas: Serão estabelecidas regras claras para evitar a confusão de marcas e logotipos entre distribuidoras e comercializadoras do mesmo grupo econômico.
d - O processo ainda levará tempo e demandará uma série de contribuições e consultas públicas promovidas pela ANEEL para coletar contribuições da sociedade e de todos os agentes do setor sobre as propostas, buscando um aprimoramento contínuo da regulamentação para um mercado mais eficiente, justo e sustentável.
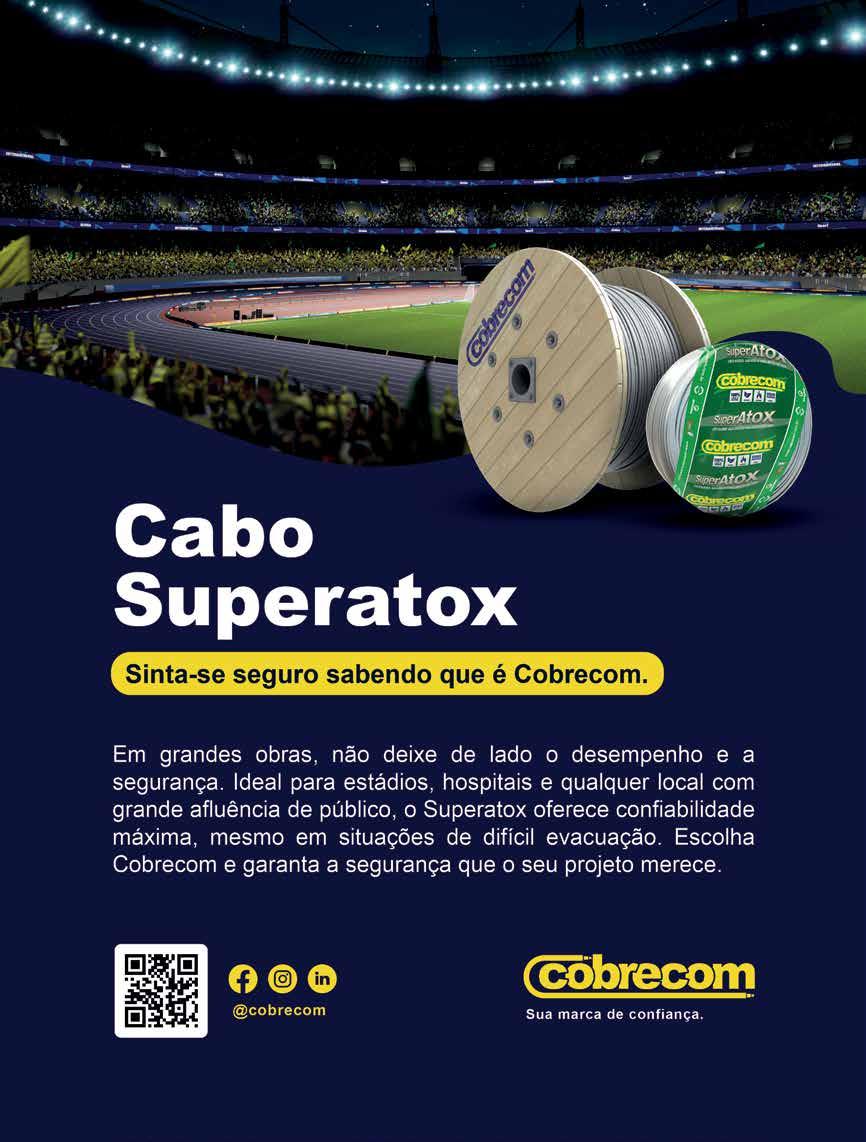
Cláudio Mardegan é CEO da EngePower Engenharia, Membro Sênior do IEEE, Membro do Cigrè | claudio.mardegan@engepower.com
TEMA EXEMPLO
Determinar a corrente de decremento de um gerador de 2000 kVA, 380V, fator de potência 0.8, corrente nominal 3038.7 A, X”d = 12%, X’d = 18%, Xd = 160%, Ra = 0.5%, T”do = 50ms, T’do=2s, para um curto-circuito em seus terminais (Zn = 0), à vazio e a plena carga.
Determinação das constantes de tempo T”d, T’d e Tg da máquina.
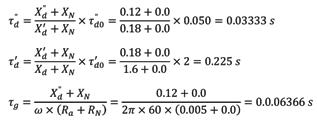
Determinação das f.e.m. das máquinas nos períodos subtransitório, transitório e permanente a plena carga (I = 1 pu):
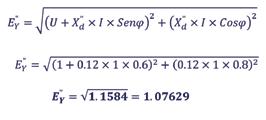

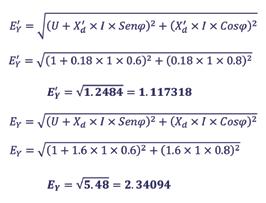
A próxima etapa consiste no cálculo das correntes subtransitória, transitória e permanente:
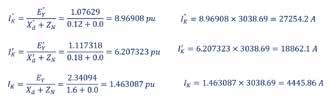
Aplicando-se os valores calculados anteriormente na equação abaixo pode-se montar a Tabela 1:


Tabela 1 – Valores da corrente de curto-circuito de decremento de geradores
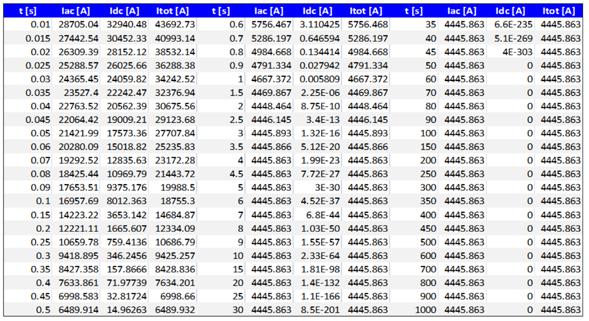
Plotando-se os dados da Tabela em uma curva tempo x corrente em escala logarítmica obtém-se a corrente de decremento do gerador para curto-circuito trifásico. Veja Figura 3.
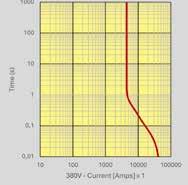
Figura 3 - Corrente de decremento do gerador para curto-circuito trifásico
Os softwares comerciais mais usuais não plotam a curva de decremento do gerador para faltas monofásicas. O principal motivo é que os valores da corrente de decremento monofásico para curtocircuito nos terminais são quase sempre maiores que o trifásico, visto que a reatância de sequência zero do gerador é muito menor do que a de sequência positiva. Assim, se a proteção atuar para a falta trifásica irá atuar para a monofásica.
A Figura 4 seguinte ilustra o exposto.
VARIAÇÃO DAS REATÂNCIAS DAS MÁQUINAS SÍNCRONAS
As impedâncias de sequência positiva variam no tempo iniciando-se com o valor de X”d, passando por X’d até atingir Xd. As reatâncias de sequência negativa (X2) e sequência zero (Xo) não variam com o tempo. O valor de X2 = (X”d+X”q)/2 ≈X”d. O valor de X0varia de 0.17 a 0.75 de X”d conforme Richard Roeper. Veja Figura 5.

Figura 4 – Comparação das curvas de decremento do gerador para curtocircuito trifásico e monofásico
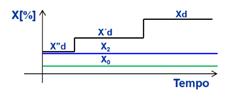
Figura 5 – Variabilidade das reatâncias de sequência positiva, negativa e zero com o tempo
VARIAÇÃO DA FREQUÊNCIA
Quando as fontes de curto-circuito estão conectadas a sistemas de elevada constante de inércia, no caso de curto-circuito a frequência praticamente não deve variar. Em sistemas de geração constituídos apenas por pequenos geradores, em caso de curtocircuito a frequência irá variar (a tendência é aumentar a frequência, pois os geradores, sob curto-circuito abruptamente deixam de fornecer potência ativa e pelo princípio de conservação de energia não tem para quem entregar esta energia e a transformam em energia cinética).
Por: Eng José Starosta – Diretor da Ação Engenharia e Instalações Ltda jose.starosta@acaoengenharia.com.br
MPassados quase cinco meses após o “apagão ibérico” que ocorreu na Espanha em 28 de abril deste ano, afetando diversos países vizinhos, com prejuízos estimados da ordem de 1,1 Bilhão a 6 Bilhões de Euros, a interrupção de energia que durou entre 5 e 12 horas e segundo as investigações teria sido causada por redução instantânea da geração de fontes de energia renováveis intermitentes.
O termo “curtailment” é utilizado para referência da limitação das fontes intermitentes nas redes elétricas em relação às fontes permanentes e essa limitação não estaria sendo atendida no caso. Os registros dos indicadores de qualidade da energia, em algumas usinas e cargas no sistema, mostram as significativas variações de frequência em períodos anteriores à interrupção sem, contudo, se verificar que providências foram tomadas. Esses registros das medições estão disponíveis em apresentação sobre Qualidade da Energia efetuada no CINASE – BH, onde tive a oportunidade de apresentar. Não se trata da “ponta do iceberg”, pois tais eventos já ocorreram, mas indica a necessária mitigação para que se evitem recorrências ou casos análogos. Alguns temas relacionados:
1 - A Potência de curto-circuito adequada definida por fontes girantes e permanentes deve prevalecer em relação às renováveis intermitentes em um sistema de potência e o entusiasmo com a redução de emissões das renováveis pode não ser tão evidente. Fontes de energia devem ser robustas mantendo os padrões e requisitos de operação das cargas conforme definido pelos procedimentos da distribuição da ANEEL (Prodist ANEEL) em vários módulos. Disrupções tecnológicas nesse sentido são aguardadas com a viabilização do hidrogênio verde, as baterias e o BESS, e até a nova tecnologia de usinas nucleares com a fusão nuclear que não gera resíduo ou lixo atômico.
2 - O advento da geração distribuída pelos consumidores requer das distribuidoras investimentos para readequação das redes elétricas. Novas cargas como os veículos elétricos trazem novos desafios aos planejadores dos sistemas elétricos.
3 - A dificuldades de implantação de sistemas de transmissão em áreas urbanas para atender as garagens de ônibus elétricos com baterias é outro ponto crítico.

4 - A regulação fator de potência estabelecida pela REN 1000 trouxe alguns avanços técnicos com as recomendações sobre os cuidados com a ressonância harmônica e os transientes causados por capacitores durante a operação em regime permanente e transitórios de manobras. Contudo as regras para a cobrança da energia reativa excedente mereceriam ao menos nova discussão, pois:
a - As fontes de GD injetam potências ativas com FP 100% cabendo às distribuidoras a função de corrigir o fator de potência das cargas dos consumidores em baixa tensão.
b - Consumidores em média tensão nem sempre são informados sobre as suas responsabilidades na compensação reativa e os sistemas de GD reduzem o FP tornando a compensação reativa e investimentos relativos necessários
c - Projetos atuais de compensação reativa devem atentar para a integração com as distorções harmônicas e novas tecnologias de equipamentos que não impactem a imunidade das cargas. Notam-se distribuidoras com redes distorcidas em valores superiores aos limites do módulo 8 do Prodist tornando a situação sem solução aparente.
d - A cobrança de energia reativa devido ao baixo FP se deve às premissas de qualidade de energia(regulação de tensão), redução de perdas elétricas e aumento da capacidade dos sistemas e fontes elétricas e naturalmente merece revisão.
e - A REN 1000 possui regras que foram definidas há mais de 30 anos, quando os perfis das cargas possuíam características bem diferentes das atuais. Os critérios regulados estabelecem valores de fator de potência de referência de 0,92 com integração horária e tarifas não vinculadas aos grupos tarifários dos consumidores. As regulações de outros países como Colômbia, México e Índia entre outros possuem cobrança de energia reativa vinculadas à variável “VAh” com benefícios aos consumidores que se propõe manter o FP próximo de 100%, reduzindo as perdas nas redes e fontes.
Muitos são os desafios para a transição energética no Brasil que trará bons impactos na limpeza da matriz energética com redução de emissões e consumo de combustíveis fósseis. Mãos à obra.
Errata da edição impressa nº 212 – julho de 2025 - O fator de potência e os “quatro quadrantes”- Parte 1. A figura abaixo corrige a figura apresentada na edição referida edição:
Onde está: Leia-se:
Quadrante II: FP(-) Capacitivo...............:FP (-) Indutivo
Quadrante III: FP (+) Indutivo.................FP (-) Capacitivo
Quadrante IV: FP(-) Capacitivo........ : FP (+) Capacitivo
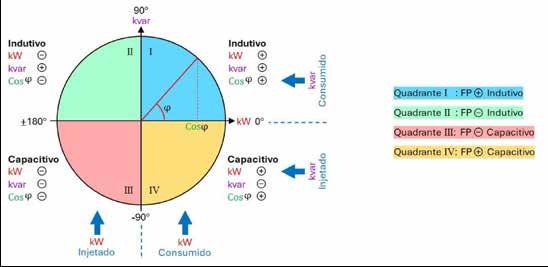

Aguinaldo Bizzo de Almeida é engenheiro eletricista e atua na área de Segurança do trabalho. É membro do GTT – NR10 e inspetor de conformidades e ensaios elétricos ABNT – NBR 5410 e NBR 14039, além de conselheiro do CREA-SP.
Para os profissionais que executam atividades no SEC – Sistema
Elétrico de Consumo, em circuitos elétricos energizados em BT, também é caracterizado o direito ao recebimento do adicional de periculosidade em instalações ou equipamentos energizados e que não observem o disposto no item 10.2.8 da NR-10, nos termos do item 1, alínea c.
1 - TÊM DIREITO AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE OS TRABALHADORES:
(...)
c) que realizam atividades ou operações em instalações ou equipamentos elétricos energizados em baixa tensão no sistema elétrico de consumo - SEC, no caso de descumprimento do item 10.2.8 e seus subitens da NR10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.
Dessa forma, no SEC, as atividades realizadas em Baixa Tensão em equipamentos ou instalações que estejam energizadas, quando realizadas em condições em que não sejam adotadas adequadamente as medidas de proteção coletiva definidas pela NR10, caracterizam o direito ao adicional de periculosidade.
Esse item pode ser considerado “o mais complexo “ para ser devidamente aplicado, uma vez que o atendimento ao item 10.2.8 da NR-10, que estabelece as medidas de proteção coletiva a serem adotadas nos serviços em instalações elétricas, é condição intrínseca para possível descaracterização do direito ao adicional de periculosidade em BT no SEC, devendo ser observado as premissas estabelecidas pela NR10, no item 10.2.8.2: As medidas de proteção coletiva compreendem, prioritariamente, a desenergização elétrica conforme estabelece esta NR e, na sua impossibilidade, o emprego de tensão de segurança, e consequente subitem 10.2.8.2.1: Na impossibilidade de implementação do estabelecido no subitem 10.2.8.2., devem ser utilizadas outras medidas de proteção coletiva, tais como: isolação das partes vivas, obstáculos, barreiras, sinalização, sistema de seccionamento automático de alimentação, bloqueio do religamento automático.
Assim, a adoção das medidas citadas no item 10.2.8 está contemplada no anexo como fator intrínseco à descaracterização do pagamento do adicional de periculosidade preconizado no Anexo IV- NR16, onde as características construtivas das instalações elétricas quanto a exposição dos trabalhadores ao Fator de Risco Eletricidade , e consequente riscos elétricos, é condição intrínseca para análise, devendo-se considerar as Normas Técnicas da ABNT, especialmente a NBR5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão.
Ocorre que predominam nas indústrias instalações elétricas de BT

sem segregação adequada para proteção ao risco de choque elétrico, ou seja, sem Grau IP mínimo 2X (NBR 6146 - Invólucros de Proteção) , expondo os profissionais ao risco de choque elétrico por contato direto, caracterizando dessa maneira “ risco acentuado” e consequente direito ao adicional de periculosidade para aqueles que realizam atividades dentro da ZR dessas instalações elétricas.
Existem inúmeras situações laborais rotineiras nas indústrias, na realização de atividades em circuitos elétricos energizados de BT, realizadas em “equipamentos segregados” , como por exemplo, atividades de manobras em gavetas de BT, para desligamentos de circuitos elétricos que poderão ou não caracterizar o enquadramento ao adicional de periculosidade aos profissionais da área elétrica, dependendo das características construtivas e condições das instalações elétricas , medidas de controle e procedimentos existentes.
Portanto, é necessária uma avaliação criteriosa quanto a característica construtiva das instalações elétricas, pois ela é condição intrínseca à possível “descaracterização” ao direito do adicional de periculosidade.
Para atividades em circuitos desenergizados, a Portaria 1.078/2014 estabelece restrição ao SEC, ao definir que as instalações ou equipamentos elétricos desenergizados, sem a possibilidade de energização acidental, conforme a NR-10, não conferem o direito à periculosidade.
2 - NÃO É DEVIDO O PAGAMENTO DO ADICIONAL NAS SEGUINTES SITUAÇÕES:
a) nas atividades ou operações no sistema elétrico de consumo em instalações ou equipamentos elétricos desenergizados e liberados para o trabalho, sem possibilidade de energização acidental, conforme estabelece a NR-10.
Dessa forma, é fundamental a correta interpretação da “condição operacional de desenergização prescrita na NR10”, uma vez que no SEC, em instalações elétricas de BT, a aplicação total da sequência estabelecida no item 10.5.1 da NR10, normalmente não é adotada, especialmente o item d) instalação de aterramento temporário com equipotencialização dos condutores dos circuitos. Essa situação ocorre rotineiramente em instalações elétricas “desligadas e bloqueadas” conforme procedimentos de “bloqueio e etiquetagem “para mecânicos e operadores de processos industriais. Nesses casos, deve-se avaliar possível aplicação do disposto no item 10.5.3 da NR10: 10 As medidas constantes das alíneas apresentadas nos itens 10.5.1 e 10.5.2 podem ser alteradas, substituídas, ampliadas ou eliminadas, em função das peculiaridades de cada situação, por profissional legalmente habilitado, autorizado e mediante justificativa técnica previamente formalizada, desde que seja mantido o mesmo nível de segurança originalmente preconizado.

o que devemos nos preocupar além do certificado?
Nunziante Graziano é engenheiro eletricista, mestre em redes e equipamentos, Ph.D. Em Business Administration e CEO do Grupo Gimi |nunziante@gimi.com.br
Oarco elétrico é um fenômeno indesejado que pode ocorrer em sistemas elétricos de baixa tensão, resultando em altas energias incidentes que podem causar danos significativos a equipamentos e riscos à segurança. A energia liberada durante um arco elétrico é capaz de gerar calor extremo, pressão e luz intensa, levando a incêndios e falhas catastróficas. Assim, é fundamental implementar tecnologias que ajudem a reduzir essa energia incidente, protegendo tanto os equipamentos quanto os operadores.
A principal norma técnica sobre o arco elétrico, e recém publicada, a ABNT NBR17227 - Arco elétrico - Gerenciamento de risco de energia incidente, precauções e métodos de cálculo, fornece metodologia para implementação de análises de risco de arco elétrico, com a execução de cálculos para a estimativa do valor da energia incidente, a adoção de métodos de proteção adequada tanto para trabalhadores como para a instalação, além de recomendações para a mitigação dos danos causados pela intensidade da energia incidente durante manobras e trabalhos de manutenção.
A construção de conjuntos de manobra e comando em invólucro metálico, de baixa tensão, utiliza o technical report da IEC TR 61641, que provê métodos de ensaio e requisitos de aceitação para a qualificação de um quadro de baixa tensão capaz de conter a falta devido a uma falha interna e proteger as pessoas e o patrimônio contra seus efeitos danosos. Ressalto que esse Technical Report é o método estabelecido para avaliar a resposta do quadro ao defeito, mas não define métodos de proteção, somente estabelece os critérios de avaliação, além de não ser um ensaio obrigatório para quadros de baixa tensão, razão pela qual não está estabelecido na NBR-IEC-61439.
A construção de conjuntos de manobra e comando em invólucro metálico, de alta tensão, de 1kV até 52kV, utiliza a norma técnica NBR-
IEC-62271-200, que em seu anexo A, provê métodos de ensaio e requisitos de aceitação para a qualificação de um conjunto de manobra e comando de alta tensão capaz de conter a falta devido a uma falha interna e proteger as pessoas e o patrimônio contra seus efeitos danosos.
A leitura atenta destas três referências normativas traz a ideia de que necessitamos de métodos de redução e contenção da energia, mas nenhuma delas diz o que fazer. Então, muitas são as técnicas possíveis, mas cada uma delas deve ser estudada para que seja escolhida a melhor ou combinação delas para alcançar o melhor resultado.
A primeira e mais óbvia é a diminuição do tempo de eliminação da falta, que pode ser obtida através de vários dispositivos de sobrecorrente com seus ajustes otimizados com esse objetivo tais como disparadores eletrônicos com Short Time Delay mais baixo, seletividade cronológica ou por zona, uso de fusíveis, reles com tempo definido para proteção de terra, diferenciais de barra, disjuntores com menor tempo de atuação, etc..
Evidentemente, escolher os melhores equipamentos conforme as normas de construção é fundamental, mas devemos aprimorar as técnicas de engenharia para redução da energia incidente oriunda do defeito para preservar a integridade física dos operadores, mitigar o estrago ao quadro e adicionar confiabilidade ao sistema elétrico, visto que os processos industriais ou operacionais alimentados por este quadro terão um MTTR (Mean Time to Repair) ou tempo médio para reparo muito menor pois o dano foi substancialmente reduzido. Na próxima coluna apresentarei mais algumas técnicas que contribuem para a otimização do controle da energia incidente. Até lá!

José Barbosa é engenheiro eletricista, relator do GT-3 da Comissão de Estudos CE: 03:064.010 - Proteção contra descargas atmosféricas da ABNT / Cobei responsável pela NBR5419. | www.eletrica.app.br
Como abordado na coluna anterior, os valores de NG do projeto da NBR 5419 tiveram aumento considerável.
O impacto desse aumento no risco de proteção e consequentemente na necessidade das medidas de proteção não é uma exclusividade da norma brasileira. Sua norma de referência, a IEC 62305, teve uma nova versão publicada em 2024 (IEC 623052:2024 {Ed. 3}).
O número de eventos perigosos anuais (ND) é um parâmetro fundamental no gerenciamento de risco de descargas atmosféricas, pois define a frequência esperada de impactos diretos de raios em uma edificação. Valores mais altos de ND aumentam a probabilidade de que o risco supere o limite tolerável (RT ), exigindo medidas adicionais de proteção.
Na IEC 62305-2:2024 (Ed. 3), o cálculo de ND é expresso como:
ND = NSG ∙ AD ∙ CD ∙ 10-6
em que:
NSG = densidade de pontos de impacto ao solo (impacto/km²/ano); AD = área de coleta equivalente da edificação (m²); CD = fator de localização.
A inovação está na adoção de NSG em substituição ao parâmetro NG. A versão anterior da norma e a ABNT NBR 5419-2:2015 utilizam:
ND = NG ∙ AD ∙ CD ∙ 10-6
Sendo NG a densidade de descargas atmosféricas para o solo, em raios/km²/ano. Nesse modelo, cada raio nuvem-solo é tratado como uma unidade, ainda que possa apresentar múltiplas ramificações ou pontos de impactos diferentes.

Na prática, a substituição de NG por NSG eleva o valor obtido de ND. Isso ocorre porque um único raio pode gerar dois ou mais pontos de impacto no solo. A relação entre NG e NSG é dada por NSG = k∙NG, onde ‘k’ é um fator de multiplicidade que representa o número médio de pontos de impacto por descarga. A IEC 62305-2:2024 orienta que, na ausência de dados específicos fornecidos por um sistema de localização de raios (LLS), deve-se usar o valor de k igual a 2.
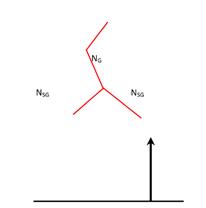
Figura 1 – Diagrama dos pontos de impacto
Na prática, a simples substituição de NG por NSG resulta em uma elevação direta do valor final de ND. Isso significa que, para uma mesma edificação, com valores idênticos de área de coleta (AD) e fator de localização (CD), o ND calculado pela nova IEC 62305-2:2024 será sempre maior do que o ND obtido pela metodologia da ABNT NBR 5419-2:2015. Ao aplicarmos o fator k=2, recomendado pela norma internacional na ausência de dados mais precisos, o impacto se torna quantificável e expressivo. A comparação direta das fórmulas revela que o número de eventos perigosos anuais (ND) calculado pelo novo método será exatamente o dobro, ou seja, sofrerá um aumento de 100% em relação ao método atual da norma brasileira para uma mesma edificação.


Daniel Bento, PMP®, é Eng. Eletricista e atua com redes isoladas de MT desde 1989. Coordenou o Comitê de Estudos B1 do CIGRE. Foi responsável técnico pela rede de distribuição subterrânea de SP. Três vezes na lista do 100 + Influentes da Energia. Atualmente, é CEO da BAUR do Brasil e da BAUR USA Corp.
Em dezembro de 2019, um dos circuitos coletores de um complexo eólico no nordeste brasileiro sofreu um curtocircuito fase-terra, interrompendo a operação de parte da planta. O incidente poderia ter passado despercebido, mas a equipe técnica decidiu investigar: quais eram as causas imediatas da falha? E, mais importante, quais causas sistêmicas subjacentes poderiam causar novas falhas e comprometer novamente a operação da planta?
As inspeções iniciais revelaram evidências visuais contundentes de degradação nos cabos. Durante a escavação da vala onde estavam enterrados seis circuitos trifásicos, identificaram-se fissuras, deformações e fusões entre as capas externas dos cabos adjacentes, com sinais de carbonização e derretimento do revestimento polimérico. Esses indícios sugeriam que os condutores operavam acima do limite térmico estabelecido pelo fabricante, especialmente no que diz respeito à temperatura máxima de 90°C para operação contínua.
O parque em questão reunia oito usinas, cada uma com dez aerogeradores de 3 MW. As turbinas operavam em 690 V e estavam conectadas a transformadores que elevavam a tensão para 34,5 kV, valor utilizado na rede coletora subterrânea até a subestação.
A análise de causa raiz de falhas seguiu as recomendações da norma IEEE 1511.1-2010, que classifica falhas em cabos de média tensão nas categorias: mecânica, química, elétrica, por envelhecimento natural, térmica e diversas. Durante os testes e


ensaios aplicados aos cabos, constatamos que não havia ruptura de blindagem, interação química relevante ou registros de surtos de tensão. O tempo reduzido de operação também afastava a possibilidade de envelhecimento natural.
A comparação entre cabos novos e cabos em operação, porém, revelou um escurecimento evidente da isolação, típico de degradação térmica, conforme ilustra a figura abaixo. Esse achado nos levou a revisar três parâmetros críticos do projeto: espaçamento entre cabos, temperatura do solo e resistividade térmica.
As inspeções mostraram que, em alguns trechos, os trifólios estavam instalados com apenas 19 cm de distância, em vez dos 30 cm previstos, o que reduziu a dissipação térmica. Além disso, o cálculo de projeto adotava uma temperatura de solo de 20°C, mas as medições locais indicaram cerca de 28°C na profundidade de 90 cm. O ponto mais crítico, no entanto, foi a resistividade térmica: considerada entre 1,0 e 1,5 k.m/W no projeto, enquanto o solo arenoso apresentava valores reais de 2,5 k.m/W ou superiores, conforme a norma IEC 60287.
Simulações térmicas mostraram que, com parâmetros subestimados, os cabos pareceriam estar em conformidade. Mas, quando aplicadas as condições reais, a temperatura dos condutores ultrapassava o limite operacional, confirmando que a falha estava ligada ao desempenho térmico da instalação, e não à sobrecarga elétrica.
Diante desses achados, a causa raiz das falhas ficou clara: operação contínua acima do regime térmico, induzida pela combinação dos seguintes fatores: espaçamento insuficiente entre circuitos, ausência de backfill termicamente estável, compactação inadequada e parâmetros irreais de solo e temperatura.
Esse estudo de caso nos deixa uma lição: a confiabilidade de sistemas subterrâneos não depende apenas da qualidade dos cabos ou da instalação. Depende também da precisão com que caracterizamos o solo e tratamos as condições ambientais. Em um setor que busca integrar cada vez mais as fontes renováveis na matriz elétrica, negligenciar esses fatores significa assumir riscos técnicos e econômicos que poderiam ser evitados.
Dr. Danilo de Souza é professor na Universidade Federal de Mato Grosso, sendo Coordenador do Núcleo Interdisciplinar de Estudos em Planejamento Energético – NIEPE, Presidente da Abracopel e é Coordenador Técnico do CINASE – Circuito Nacional do Setor Elétrico. Danilo também é pesquisador no Instituto de Energia e Ambiente da USP | www.profdanilo.com

Se o fogo foi a primeira grande conquista energética dos Sapiens, permitindo cozinhar, iluminar e proteger, e a fotossíntese domesticada pela agricultura foi a segunda, construindo as bases para civilizações sedentárias, e se a terceira veio com a domesticação da força animal, que multiplicou a capacidade de trabalho dos Sapiens, a quarta revolução energética pode ser entendida como o domínio dos fluxos naturais. Refiro-me aqui sobretudo aos fluxos do vento e da água, que passaram a ser apropriados de modo sistemático para gerar movimento, trabalho mecânico e, em última instância, para ampliar a produtividade e transformar a organização social.
O vento, que por milênios foi apenas uma manifestação climática associada a fenômenos naturais e religiosos, tornou-se força útil quando os Sapiens aprenderam a dominá-lo e a convertê-lo em trabalho. Um dos marcos dessa conquista foi a navegação à vela, que permitiu explorar mares e rios de maneira mais eficiente. As embarcações movidas pelo vento conectaram territórios, ampliaram o comércio, permitiram expedições de exploração e guerra, e criaram um novo horizonte de mobilidade. A navegação, além de unir comunidades distantes, também consolidou impérios, transformou economias e abriu caminho para a globalização incipiente. O vento, ao encher as velas, moveu exércitos, mercadores e aventureiros, alterando o curso dos Sapiens.
Paralelamente, em terra firme, os moinhos de vento começaram a desempenhar um papel fundamental na conversão da energia cinética dos ventos em movimento rotativo. Esses moinhos, inicialmente simples, foram aperfeiçoados em diferentes regiões do mundo, assumindo formas e técnicas variadas, mas todos voltados à mesma finalidade: substituir o esforço humano ou animal pela força da natureza. O moinho de vento, seja para moer grãos, bombear água ou serrar madeira, representou uma libertação parcial do peso do trabalho físico cotidiano. Ele também significou a possibilidade de acumular excedentes, de aumentar a produção de alimentos, de
reduzir o tempo despendido em tarefas básicas e, assim, de abrir espaço para outras atividades econômicas e culturais. Enquanto o vento se tornava motor de barcos e moinhos, a água se convertia em uma das mais poderosas fontes de energia mecânica. O princípio da roda d’água, que transforma a energia potencial e cinética dos rios em movimento rotativo, foi um divisor de águas na história tecnológica. Estima-se que uma roda d’água vertical pudesse gerar entre 2 e 5 kW, equivalentes ao trabalho contínuo de 40 a 100 homens. Da mesma forma, um moinho de vento bem projetado podia substituir a força de 30 a 50 trabalhadores em tarefas como moagem de grãos e bombeamento de água. No mar, as velas multiplicaram ainda mais essa capacidade, permitindo que embarcações do período moderno deslocassem centenas de toneladas de carga apenas com o aproveitamento da energia eólica. Essa constância e escala permitiram estabelecer oficinas e centros de produção em torno das correntes de água, criando núcleos de atividade econômica que, em muitos casos, foram embriões de cidades industriais.


Nesse cenário, a importância da energia hidráulica não se limitava à produção material. O controle das águas tinha também dimensão política e simbólica. Povos e reinos que dominavam as margens de rios caudalosos, além de possibilitar o cultivo de alimentos e o desenvolvimento do transporte, também disponibilizada de produzir trabalho mecânico, a partir da energia cinética e potencial dos rios. Assim como os ventos impulsionavam caravanas marítimas, as águas moviam moinhos e ferrarias, transformando paisagens e fortalecendo as relações de dependência entre a natureza e a sociedade, que estão acopladas.
A quarta revolução energética, portanto, ampliou a capacidade humana de gerar trabalho mecânico sem depender exclusivamente da força muscular, seja de homens ou animais. Esse avanço, embora técnico em sua essência, teve profundas implicações sociais. Com mais energia disponível, a produtividade aumentou. O tempo antes destinado a tarefas repetitivas pôde ser redirecionado para o artesanato, o comércio, a ciência, a arte e a guerra. As sociedades tornaram-se mais complexas, com maior especialização de funções e maior diferenciação social.
Esse domínio dos fluxos também introduziu uma nova mentalidade. Ao perceber que o vento e a água podiam ser domesticados e colocados a serviço da produção, os Sapiens desenvolveram uma visão mais instrumentalizada da natureza. Se no início o fogo parecia dom da divindade e a agricultura dependia de rituais para garantir fertilidade, agora os fluxos eram interpretados como recursos que podiam ser explorados de forma racional, com técnicas e cálculos.
Ao mesmo tempo, os limites dessa revolução eram claros. Nem todos os lugares dispunham de ventos constantes ou de rios caudalosos. A distribuição geográfica da energia natural criava desigualdades entre regiões. Locais com abundância de ventos ou cursos d’água tinham vantagens comparativas, podiam produzir mais e com menor esforço, enquanto outros permaneciam dependentes
da força animal e do trabalho humano. Isso explica, em parte, a concentração de atividades econômicas e a formação de polos de desenvolvimento em determinadas regiões.
Na Antiguidade, os romanos exploraram rodas d’água em larga escala no complexo de Barbegal, próximo a Arles, no sul da Gália, enquanto na China o uso de rodas hidráulicas se difundiu ao longo do rio Amarelo. Na Idade Média, entre os séculos XI e XIV, cidades como Londres, Paris e Milão prosperaram com moinhos d’água, enquanto Amsterdã e outras regiões dos Países Baixos se destacaram pelos moinhos de vento usados no bombeamento e na produção agrícola. No Mediterrâneo, Veneza e Gênova ampliaram seu poderio com a navegação à vela, e, a partir do século XV, a energia renovável dos ventos nas velas impulsionou a expansão marítima principalmente de portugueses, espanhóis e ingleses por todo o mundo.
Assim, apesar das limitações, a quarta revolução energética teve impacto duradouro. Ela inaugurou a lógica que se manteria nas revoluções seguintes: a busca por converter forças naturais em trabalho útil, armazenável e aplicável em larga escala. O vento e a água, transformados em movimento por moinhos e rodas, foram precursores diretos das turbinas modernas. As turbinas eólicas e hidrelétricas que hoje geram grande parte da eletricidade mundial são descendentes diretas desses primeiros dispositivos. O que antes movia pedras de moer hoje alimenta redes elétricas inteiras.
É significativo notar também o aspecto simbólico dessa etapa. O vento, invisível mas palpável em sua força, sempre esteve associado a divindades e mitos de liberdade, movimento e transformação. Esse domínio dos fluxos pode ser visto como um elo entre as primeiras formas de energia controlada e a era industrial. Sem moinhos e rodas d’água, dificilmente os Sapiens alcançariam a mecanização em grande escala. Eles representaram uma etapa intermediária, desde antes da Idade Média, até uma pré-industrialização, em que a energia natural começava a ser convertida em trabalho de forma cada vez mais sistemática.
A quarta revolução energética, portanto, pode ser entendida como a etapa em que os Sapiens aprenderam a dominar os principais fluxos da natureza para transformar o movimento invisível do ar e o curso incessante da água em trabalho produtivo. Essa conquista aumentou a capacidade de gerar excedentes e consolidar sociedades mais complexas, e lançou as bases para a modernidade energética.
VAN RUISDAEL, Jacob. The Windmill at Wijk bij Duurstede. c. 1670. Óleo sobre tela. Rijksmuseum, Amsterdã. Disponível em: https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/SK-C-211. Acesso em: 7 set. 2025.
VAN RUISDAEL, Jacob. Water mill near a farm [Landscape with a watermill and men cutting reed]. c. 1653. Óleo sobre madeira de carvalho, 37,6 × 44 cm. Museum Boijmans Van Beuningen, Roterdã. Disponível em: https://collectie.boijmans. nl/en/object/2520OK. Acesso em: 7 set. 2025.
Roberval Bulgarelli é engenheiro eletricista e consultor sobre equipamentos e instalações em atmosferas explosivas.
De acordo com os requisitos da Norma Técnica Brasileira adotada ABNT NBR IEC 60079-14, equipamentos “Ex” devem ser especificados, dimensionados, instalados e utilizados de forma que operem dentro de suas faixas nominais de potência, tensão, corrente, frequência, regime de serviço e outras características onde a não conformidade possa colocar em risco a segurança do equipamento e, consequentemente, de toda a instalação. Além disto, os equipamentos “Ex” devem ser também especificados considerando as características de classificação de áreas dos locais onde serão instalados, incluindo ZONAS, GRUPOS e CLASSES DE TEMPERATURA
CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO DE EQUIPAMENTOS “EX” DE ACORDO COM A ZONA DA CLASSIFICAÇÃO DE ÁREAS DO LOCAL DA INSTALAÇÃO
Para as situações apresentadas a seguir é previsto que a seleção do EPL (Equipment Protection Level) de equipamentos “Ex” seja feita com relação às ZONAS dos locais de instalação. A Norma Técnica Brasileira adotada ABNT NBR IEC 60079-14 apresenta a metodologia “tradicional” de seleção do EPL, de acordo com as determinações das ZONAS de áreas classificadas com gases inflamáveis ou poeiras combustíveis como indicado a seguir.
Fazendo-se uma comparação simplificada entre os EPL e os tipos de proteção, para fins de instalação em atmosferas explosivas de gás (Grupo II), de forma similar com as atuais e
ZONA

“tradicionais” definições indicadas da Norma Técnica Brasileira adotada ABNT NBR IEC 60079-14 , com base em definição de zonas (sem levar em consideração nenhuma avaliação adicional de risco), resultam os seguintes critérios de seleção de EPL de equipamentos com relação à classificação de áreas:
• Equipamentos “Ex” com EPL Ga são adequados para instalação em áreas classificadas contendo gases inflamáveis Zonas 0, Zona 1 ou Zona 2
• Equipamentos “Ex” com EPL Gb são adequados para instalação em áreas classificadas contendo gases inflamáveis Zonas 1 ou Zona 2
• Equipamentos “Ex” com EPL Gc são adequados para instalação somente em áreas classificadas contendo gases inflamáveis Zona 2
De forma similar, podem ser relacionados os EPL para instalação em áreas classificadas contendo poeiras combustíveis (Grupo III) , como apresentado a seguir:
• Equipamentos “Ex” com EPL Da são adequados para instalação em áreas classificadas contendo poeiras combustíveis Zona 20, Zona 21 ou Zona 22
• Equipamentos “Ex” com EPL Db são adequados para instalação em contendo poeiras combustíveis Zonas 21 ou Zona 22
• Equipamentos “Ex” com EPL Dc são adequados para instalação somente em contendo poeiras combustíveis Zona 22
Níveis de proteção de equipamentos (EPL) adequados para a instalação
Ga ou Gb
Ga, Gb ou Gc
Da ou Db
Da, Db ou Dc
GRUPO
Grupo II
Gases inflamáveis
Grupo III Poeiras combustíveis
Caio Huais é engenheiro industrial, especialista em Engenharia Elétrica e Automação com MBA em engenharia de manutenção e gestão de negócios. Atualmente, ocupa posição de gerente corporativo de manutenção no Grupo Equatorial, respondendo pelo desempenho da Alta Tensão de 7 concessionárias do Brasil.
Por Caio Huais e Yuri Andrade
Trazemos uma abordagem prática sobre as mudanças da norma, fato importante para o processo de manutenção do ativo. Optamos por trazer o conteúdo por todo contexto complexo de mercado para fabricação e comercialização de transformadores de potência e a consequência disso no contexto de manutenção.
Em agosto de 2025, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) publicou a atualização da NBR 5356-1:2025, intitulada “Transformadores de potência – Parte 1: Generalidades”. A revisão traz um conjunto relevante de mudanças, que impactam diretamente nos requisitos, características nominais e condições de funcionamento de transformadores de potência.
Profissionais de manutenção devem observar que essa nova versão apresentou expressivas alterações em relação à sua versão precedente. Destacam-se melhorias gerais no texto, que vão desde correções ortográficas e reposicionamento de tópicos ao acréscimo de temas importantes, outrora não abarcados, como, por exemplo, o Novo Anexo E, voltado a sistemas de monitoramento.
Na atualização, foram introduzidas novas definições (como valor de projeto e valor especificado), ampliação de critérios de temperaturas e resfriamento e acréscimo de determinações relacionadas às distorções harmônicas de corrente e de tensão. Esses ajustes impactam diretamente a análise de desempenho em campo e a definição de limites operacionais seguros, perfazendo maior alinhamento às demandas técnicas do setor elétrico.
Nos ensaios de rotina, de tipo e especiais, aplicáveis ao contexto de recebimento em fábrica, houve um conjunto de alterações, com acréscimos de novos ensaios e alteração da classificação de outros.
Ainda no que tange aos ensaios de fábrica, cabe destaque ao novo limite da corrente de excitação medida em relação ao valor especificado (ou garantido), que passa a ser limitado a +30% e não mais a +20%, como outrora.
Outro ponto de destaque é a inclusão de critérios para transporte e esforços mecânicos, estabelecendo que os transformadores devem suportar acelerações máximas de pelo menos 1 g em todas as direções. Essa definição tem reflexos diretos na fase de recebimento em campo e nas inspeções pós-transporte de registradores de impacto, etapas essenciais para evitar falhas precoces.

A norma também traz novas exigências sobre identificação de enrolamentos religáveis e enrolamentos terciários não destinados à suplência de cargas, o que também vai ao encontro da necessidade de maior clareza nas simbologias das placas de identificação, mitigando eventuais erros de instalação em campo.
MONITORAMENTO E ESTRATÉGIA DIGITAL
Entre os ineditismos mais estratégicos da nova versão da norma, está o novo Anexo E, que trata das preparações necessárias para a futura instalação de sistemas de monitoramento. Ele prevê pontos de medição para temperatura, gases, descargas parciais, corrente de neutro e outros parâmetros críticos. Trata-se de um avanço que conecta a norma às práticas de manutenção preditiva e digitalização de ativos, hoje cada vez mais presentes nas concessionárias e indústrias.
Ainda nesse contexto, surgem diretrizes sobre compatibilidade eletromagnética e considerações ambientais e de segurança, temas alinhados ao conceito de manutenção sustentável e resiliente.
A atualização da ABNT NBR 5356-1 traz pontos que reforçam a necessidade de a manutenção de transformadores de potência deve estar cada vez mais integrada a práticas de Engenharia, monitoramento contínuo e análise de dados. Os profissionais do setor precisarão revisar planos de manutenção preventiva, atualizar metodologias de ensaio e investir em capacitação para dominar os novos requisitos normativos. É importante a percepção dessas mudanças, haja vista suas influências na manutenção e até mesmo para projetos de monitoramento com foco em predição de falhas. Até mesmo por isso, hoje já se encontra, no meio educacional, uma pós-graduação específica para transformadores de potência, por ser um tema relevante e que precisa ser explorado com vistas a um melhor atendimento às demandas do mercado de trabalho.
Portanto, a nova versão da ABNT NBR 5356-1:2025 incorpora tendências que transformam a forma como projetamos, operamos e, sobretudo, mantemos transformadores de potência. Cabe aos profissionais de manutenção absorverem essas mudanças, atualizar seus planos e adotar uma postura proativa de aprendizado contínuo, assegurando que os ativos críticos operem com máxima eficiência, segurança e confiabilidade.
Treinamentos técnicos e encontros de negócios com conteúdo da mais alta qualidade apresentado por verdadeiros mestres em suas áreas de atuação.