





















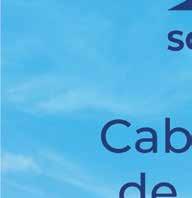





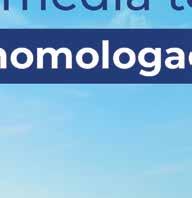


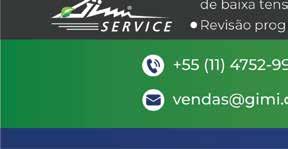

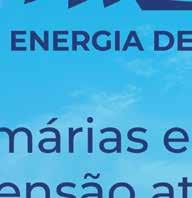





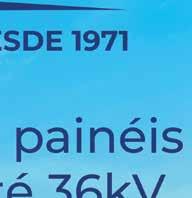






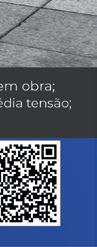
atitude@atitudeeditorial.com.br
Diretores
Diretores
Adolfo Vaiser - adolfo@atitudeeditorial.com.br
Adolfo Vaiser
Simone Vaiser - simone@atitudeeditorial.com.br
Simone Vaiser
Editor-chefe - MTB - 0014038/DF
Edmilson Freitas - edmilson@atitudeeditorial.com.br
4 Editorial
O Brasil e a nova geopolítica energética: da vocação à liderança
6 Eventos do Setor
SENDI se consolida como palco central para decisões estratégicas do setor elétrico nacional
12 Artigo Técnico
Assistente de circulação, pesquisa e eventos Henrique Vaiser – henrique@atitudeeditorial.com.br Victor Meyagusko – victor@atitudeeditorial.com.br
Coordenação de conteúdo e pauta Flávia Lima - flavia@atitudeeditorial.com.br
Administração
Reportagem
Linhas subterrâneas x linhas aéreas
16 Desempenho de Linhas de Transmissão Frente a Descargas Atmosféricas
Matheus de Paula - matheus@atitudeeditorial.com.br
Assistente de circulação, pesquisa e eventos administrativo@atitudeeditorial.com.br
Roberta Nayumi administrativo@atitudeeditorial.com.br
Marketing e mídias digitais
Henrique Vaiser - henrique@atitudeeditorial.com.br
Editor
Letícia Benício - leticia@atitudeeditorial.com.br
Edmilson Freitas
edmilson@atitudeeditorial.com.br
Pesquisa e circulação
Maria Elisa Vaiser - mariaelisa@atitudeeditorial.com.br
Reportagem
24 Nova Norma de Arco Elétrico - comentada pela comissão
30 Transmissão: Caminhos da energia
36 Inovação na distribuição e novas tecnologias de suporte: inteligência artificial, realidade virtual e blockchain
40 Por Dentro das Normas
Administração
Fernanda Pacheco - fernanda@atitudeeditorial.com.br
Paulo Martins - paulo@atitudeeditorial.com.br
Roberta Mayumi - administrativo@atitudeeditorial.com.br
Publicidade
Publicidade
Diretor comercial
Diretor comercial
Comercial
Adolfo Vaiser
Adolfo Vaiser - adolfo@atitudeeditorial.com.br (11) 98188 – 7301
Contato publicitário
Aguinaldo Bizzo – NR 10 / Paulo Barreto - NBR 5410 / Marcos Rogério - NBR 14039
44 Espaço Aterramento
Metodologia de modelagem geoelétrica
46 Espaço Cigre-Brasil
Willyan Santiago - willyan@atitudeeditorial.com.br
Willyan Santiago - willyan@atitudeeditorial.com.br (11) 98490 – 3718
Direção de arte e produção
Oswaldo Christo - oswaldo@atitudeeditorial.com.br (31) 9 9975-7031 / (31) 3412-7031
O futuro do setor elétrico em debate no Nordeste: SNPTEE 2025 reúne especialistas em Recife
Leonardo Piva - atitude@leonardopiva.com.br
Leonardo Piva - atitude@leonardopiva.com.br
Diagramação
Leonardo Piva - leopiva@gmail.com
Colaboradores desta edição
Colaboradores da publicação:
48 Espaço Abradee
Abradee completa 50 anos de incentivo à melhoria contínua do serviço de distribuição de energia elétrica
Huais, Luiz Carlos Catelani Junior, Daniel Bento, Danilo de Souza, Mello, Monica Saraiva Panik, Lílian Ferreira Queiroz, Lindemberg Nunes
Silva, Arnaldo José Pereira Rosentino Junior e Marcus Vinícius Borges
Carla Damasceno Peixoto, Rafael Alípio, Fernando Diniz, Naiara Duarte, Claudio Mardegan, Filipe Resende, Márcio Bottaro, Rogério Pereira de Camargo, Bruno Laurindo, Leonardo Silva, Andressa Ruviaro Almeida, Wellington Gleydson Cabral, Ciceli Martins Luiz, Breno Fernandes Ribeiro, Leonardo Luiz da Rocha, Ricardo Cardoso dos Santos, Aguinaldo Bizzo, Paulo Barreto, Marcos Rogério, Paulo Edmundo Freire da Fonseca, Aline Cristiane Pan, Luciano Rosito, Frederico Boschin, Lílian Ferreira Queiroz, Roberval Bulgarelli, José Starosta, Nunziante Graziano, José Barbosa, Daniel Bento, Danilo de Souza e Caio Huais.
Aguinaldo Bizzo de Almeida, Paulo Roberto Borel Júnior, Renato Jardim Teixeira, Thiago Francisco Gomes, Henrique Fernandes Borges, Caio Huais, Luiz Carlos Catelani Junior, Daniel Bento, Danilo de Souza, Emmanuela de Almeida Jordão, Frederico Carbonera Boschin, Paulo Edmundo Freire, Jose Maurilio da Silva, Rinaldo Botelho, João Carlos Mello, Monica Saraiva Panik, Lílian Ferreira Queiroz, Lindemberg Nunes Reis, Luciano Rosito, Claudio Mardegan, Nunziante Graziano, Jose Starosta, Fabrício Augusto Matheus Moura, Ana Carolina Ferreira da Silva, Arnaldo José Pereira Rosentino Junior e Marcus Vinícius Borges Mendonça.
Nova NR-10 moderniza regras e fortalece segurança ao alinhar regras ao gerenciamento de riscos da NR-1
54 Pesquisa Setorial
A Revista O Setor Elétrico é uma publicação mensal da Atitude
Fale conosco contato@atitudeeditorial.com.br Tel.: (11) 98433-2788
A Revista O Setor Elétrico é uma publicação mensal da Atitude Editorial Ltda., voltada aos mercados de Instalações Elétricas, Energia e Iluminação, com tiragem de 13.000 exemplares. Distribuída entre as empresas de engenharia, projetos e instalação, manutenção, indústrias de diversos segmentos, concessionárias, prefeituras e revendas de material elétrico, é enviada aos executivos e especificadores destes segmentos.
Dispositivos Elétricos de proteção, manobra e comando BGT/MT
Distribuída entre as empresas de engenharia, projetos e instalação, e especificadores destes segmentos.
58 Aline Cristiane Pan - Inovação e Equidade no Setor Elétrico
59 Luciano Rosito – Iluminação Pública
60 Frederico Boschin - Conexão Regulatória
reprodução total ou parcial das matérias sem expressa autorização
Capa: istockphoto.com | Chirapriya Thanakonwirakit
A Revista O Setor Elétrico é uma publicação mensal da Atitude Editorial Ltda., voltada aos mercados de Instalações Elétricas, Energia e Iluminação, com tiragem de 13.000 exemplares. Distribuída entre as empresas de engenharia, projetos e instalação, manutenção, indústrias de diversos segmentos, concessionárias, prefeituras e revendas de material elétrico, é enviada aos executivos e especificadores destes segmentos. Os artigos assinados são de responsabilidade de seus autores e não necessariamente refletem as opiniões da revista. Não é permitida a reprodução total ou parcial das matérias sem expressa autorização da Editora.
Os artigos assinados são de responsabilidade de seus autores e não necessariamente refletem as opiniões da revista. Não é permitida a reprodução total ou parcial das matérias sem expressa autorização da Editora.
Impressão - Referência Editora e Gráfica
61 Lílian Ferreira Queiroz - Gestão de Ativos
62 Cláudio Mardegan – Análise de Sistemas Elétricos
64 Roberval Bulgarelli – Instalações EX
65 José Starosta – Energia com Qualidade
Distribuição - Correios
Capa: istockphoto.com | sefa ozel
Impressão - Gráfica Grafilar
Distribuição - Correios
66 Aguinaldo Bizzo – Segurança do Trabalho
67 Nunziante Graziano – Quadros e painéis
Atitude Editorial Publicações Técnicas Ltda. Rua Piracuama, 280, Sala 41
Atitude Editorial Publicações Técnicas Ltda.
Fone - (11) 98433-2788 www.osetoreletrico.com.br
Atitude Editorial Publicações Técnicas Ltda. www.osetoreletrico.com.br atitude@atitudeeditorial.com.br Filiada à
Cep: 05017-040 – Perdizes – São Paulo (SP) Fone - (11) 98433-2788 www.osetoreletrico.com.br atitude@atitudeeditorial.com.br Filiada à

68 José Barbosa – Proteção contra raios
69 Daniel Bento – Redes Subterrâneas em Foco
70 Danilo de Souza – Energia, Ambiente & Sociedade


72 Caio Cezar Neiva Huais – Manutenção estratégica
Ocenário energético global passa por uma transformação estrutural sem precedentes. A descarbonização da economia mundial não é mais uma escolha estratégica, mas sim uma tendência natural, desenhada e impulsionada por uma sociedade cada vez mais consciente e preocupada com a saúde do planeta. Nesse contexto, fontes renováveis, hidrogênio verde e minerais críticos assumem protagonismo, deslocando o eixo da geopolítica energética das regiões produtoras de petróleo e gás para os países com vocação natural à energia limpa. O Brasil está no centro desse novo tabuleiro.
Com uma matriz elétrica composta por mais de 80% de fontes renováveis — predominantemente hídrica, seguida de eólica, solar e biomassa —, o país se destaca como um exemplo raro de grande economia com base energética limpa. Mas o potencial vai além. O Brasil possui um dos maiores recursos solares e eólicos do planeta, vastas reservas de lítio, níquel e cobre, além de capacidade de produção competitiva de hidrogênio verde, insumo-chave para descarbonizar setores difíceis de eletrificar, como siderurgia, fertilizantes e transporte marítimo.
Neste novo mapa energético global, o Brasil pode se tornar um hub estratégico de energia limpa, tanto para consumo interno quanto para exportação — direta (eletricidade e hidrogênio) ou indireta (commodities e produtos industrializados com baixa pegada de carbono). Ao exportar soluções completas — engenharia, equipamentos, padrões técnicos, plataformas digitais de gestão de rede, integração de renováveis e serviços de operação remota — o Brasil projeta influência regulatória e reputacional. O momento exige mais do que recursos naturais. É preciso planejamento energético de longo prazo, modernização regulatória e infraestrutura logística adequada. Projetos de transmissão para escoar energia do Nordeste ao Sudeste, políticas industriais voltadas à eletrointensividade verde, acordos bilaterais e uma diplomacia energética proativa, são peças fundamentais dessa construção. Também é urgente desatar os nós do licenciamento ambiental, da insegurança jurídica e da lentidão no leilão de novas linhas de transmissão e de hidrelétricas.
E é aqui que a indústria da eletricidade brasileira se torna peça-chave. Mais do que fornecedores de equipamentos, fabricantes nacionais de cabos, transformadores, disjuntores, painéis, inversores, sistemas de proteção e automação, são guardiões de conhecimento aplicado ao nosso sistema elétrico híbrido — interligado, extensivo e cada vez mais digital. Uma estratégia de liderança geopolítica passa por fortalecer esse parque industrial, ampliando conteúdo local competitivo, escalando a produção para atender, tanto a projetos internos, quanto às exportações e integrando cadeias globais, sem abrir mão da autonomia tecnológica. Programas de P&D e inovação cooperativa (incluindo aqueles regulados pela ANEEL) podem acelerar o salto tecnológico brasileiro.
Ao mesmo tempo, o setor elétrico brasileiro precisa se posicionar como vetor da nova política industrial, sendo a base sobre a qual se assentará uma economia de baixo carbono, intensiva em conhecimento e com valor agregado. Isso exige o fortalecimento de uma cadeia produtiva nacional, com inovação tecnológica e incentivos à produção de equipamentos, baterias, eletrolisadores e soluções digitais.
A oportunidade é histórica. O Brasil pode deixar de ser apenas um exportador de recursos brutos para assumir o papel de potência verde global, influente na construção de um novo paradigma energético e industrial. Mas o tempo é curto, e a janela de liderança não estará aberta para sempre. O futuro da energia mundial está em disputa — e o Brasil precisa escolher se será espectador ou protagonista.


Acompanhe nossas novidades pelas redes sociais:



Fábrica própria de TCs e TPs até 36kV



Soluções em eletrificação, automação e digitalização
Portfólio completo de Painéis de Baixa e Média Tensão e Proteção e Controle
em todo o Brasil


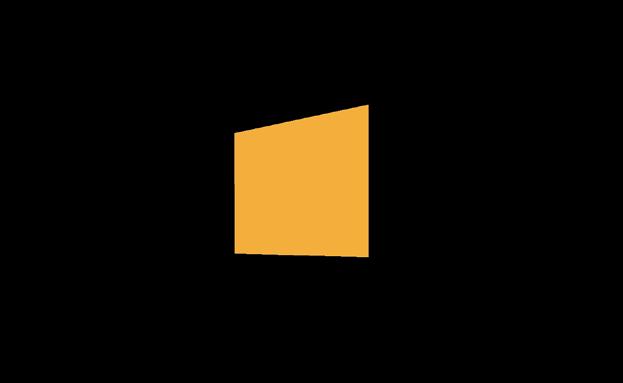
gruposetta.com (34) 3826-7800

O Brasil e a nova geopolítica energética: da vocação à liderança

Fazendo jus ao título de maior evento de distribuição de energia elétrica da América Latina, o SENDI 2025, foi realmente grandioso. Tendo como anfitriã a Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), o evento reuniu, durante cinco dias, os principais players globais do mercado de energia para discutir inovações, compartilhar conhecimento e fortalecer o setor energético. Organizado pelo Instituto Abradee (ligado à Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica), juntamente com a CEMIG, o evento, que é realizado a cada dois anos, registrou a presença de mais de 6 mil pessoas.
Parceiro do congresso, o Grupo O Setor Elétrico não só marcou presença no evento com um estande na área de exposição, como também participou da programação oficial do SENDI. Divisão de educacional do Grupo, o Instituto O Setor Elétrico (IOSE) ficou responsável pela realização dos cursos técnicos que foram oferecidos aos participantes do SENDI ao longo do primeiro dia do evento, 26 de maio.
Voltados a engenheiros, técnicos, profissionais de concessionárias, pesquisadores, estudantes da área,
especialistas em automação e redes inteligentes, além de empresas e startups focadas em tecnologia e inovação no setor elétrico, ao todo, foram ministrados oito cursos. Cuidadosamente desenvolvidos com base em pesquisas de conteúdo com o público alvo do evento, as capacitações tiveram foco nas mais recentes atualizações normativas, em inovações do mercado e nos desafios e oportunidades do setor, abrangendo temas essenciais para a atualização e o acompanhamento das tendências do setor elétrico.
“Historicamente, o Grupo O Setor Elétrico sempre participou do SENDI, dada a relevância do evento para o setor elétrico brasileiro. Mas em 2025, além de sermos parceiros de mídia, com um estande de destaque na área de exposição, também entregamos este produto altamente valioso para os profissionais da área. Nesta parceria, entregamos toda a nossa expertise e a credibilidade de especialistas renomados do segmento elétrico nacional em prol da capacitação e atualização técnica dos profissionais que, diariamente, fazem o setor elétrico brasileiro acontecer na sua melhor forma, com

conhecimento, técnica e precisão”, explica Adolfo Vaiser, CEO do Grupo O Setor Elétrico e cofundador do IOSE.
Congresso do SENDI - Ao longo de quatro dias repletos de atividades, o congresso mergulhou em uma programação diversificada que incluiu painéis, workshops e apresentações de cases inspiradores, tanto nacionais quanto internacionais. Lideranças empresariais, especialistas, autoridades, pesquisadores e startups debateram temas prementes como a modernização das redes elétricas, a segurança cibernética, a digitalização, as práticas de ESG e os novos modelos de negócio impulsionados pela inovação tecnológica, sempre com foco na melhoria contínua para o consumidor.
Parabenizando a CEMIG pela organização do evento, o presidente da Abradee, Marcos Madureira, lembrou que a

capital mineira sediou a primeira edição do Congresso, em 1972. “Minas Gerais sempre está à frente de todos os desafios que se encontram em vários setores, em especial, no setor energético. Celebramos aqui um fato importante, pois o primeiro SENDI ocorreu justamente em Belo Horizonte, há 53 anos, e hoje, já estamos na nossa 25ª edição. Ou seja, ter o SENDI aqui, com mais de 250 expositores, que são aqueles que estão trazendo alta tecnologia, tanto em equipamentos, quanto em processos, para termos as transformações necessárias neste setor, é um momento muito oportuno e especial”, ressalta Madureira.
Para o presidente da Cemig, Reynaldo Passanezi Filho, o SENDI 2025 foi uma edição “histórica e impecável, superando todas as expectativas”. No encerramento, sua mensagem principal foi um chamado para que o setor “recupere o


orgulho de sua força e essencialidade, reconhecendo o quanto contribui para movimentar a sociedade brasileira”.
Passanezi Filho destacou a celeridade das transformações, citando a necessidade de “‘learning agility’ – a capacidade de aprendizado e renovação ágil do pensamento – para se adaptar a um futuro onde a tecnologia disruptiva é protagonista”.
Feira de exposição - A feira de exposição foi um dos pontos altos do evento, com mais de 250 expositores, incluindo grandes empresas como Siemens, Schneider Electric, Huawei, WEG, ABB, BYD, Itaipu, Trael, Nexans e startups do setor de energia. Uma das áreas mais visitadas foi a Arena de Inovação, onde 50 startups selecionadas pelo programa SENDI Labs apresentaram soluções disruptivas para a modernização das redes, uso de IoT e sustentabilidade energética. O ambiente

também sediou rodadas de negócios, mentorias e o Desafio de Startups.
“O SENDI 2025 consolidou, mais uma vez, sua posição como o principal encontro técnico das engenharias das concessionárias e um dos fóruns mais estratégicos do setor elétrico nacional. Para o Grupo SABE, foi uma oportunidade marcante de apresentar, de forma integrada, a força e a sinergia de todas as nossas empresas e soluções. Hoje, não falamos apenas da Itaipu Transformadores; levamos ao evento um portfólio completo e diversificado, sempre sustentado pelo mesmo compromisso com a inovação e com práticas sólidas de responsabilidade socioambiental. No SENDI, reforçamos o transformador ecológico, tecnologia que desenvolvemos com a aplicação de óleo vegetal em substituição ao óleo




mineral, ampliando os benefícios ambientais e alinhando desempenho técnico à sustentabilidade”, destaca o CEO da Itaipu Transformadores e Grupo SABE, Reno Bezerra.
Para o Gerente Comercial e Marketing da Trael, Dimas Yamanaka, um dos grandes diferenciais do SENDI é a possibilidade de reunir, em um único ambiente, os grandes players do setor e as principais distribuidoras de energia do país. “O SENDI oportunizou uma intensa troca de informações e networking com as companhias de energia e os principais players do mercado elétrico. Em paralelo, também tivemos um grande congresso, com grandes especialistas, e a Arena de inovação, onde apresentamos dois trabalhos técnicos: o Trafo Auto Regulável - desenvolvido em parceria com a empresa alemã MR, Cemig, RGE e Energisa; e o Reator eletromecânico a Núcleo Saturado - projeto conjunto com a Neoenergia, Universidade Federal de Uberlândia (UFU), com apoio da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Foram dias memoráveis e muito produtivos”, destaca.
Rodeio dos Eletricistas – Ponto alto do evento, o Rodeio dos Eletricistas reuniu 26 equipes de diversas distribuidoras e prestadoras de serviços em um ambiente controlado, que valorizou a impressionante habilidade, a técnica apurada e, acima de tudo, o compromisso com a segurança dos profissionais que atuam na linha de frente do setor elétrico.


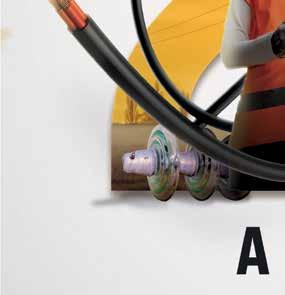



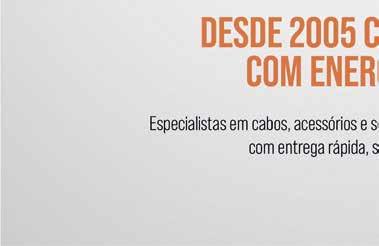


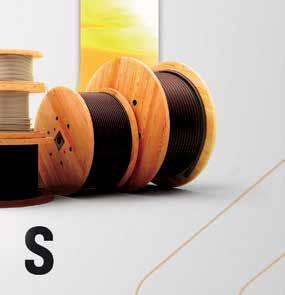


*Por Carla Damasceno Peixoto

Em tempos de aceleração na transição energética, muitas são as questões relativas ao escoamento desta energia e maiores os investimentos. Este cenário apresenta grandes desafios no planejamento estratégico e na adoção de alternativas para a transmissão desta energia, quer seja em corrente alternada, quer seja em corrente contínua (nas longas distâncias) e com emprego de linhas aéreas ou subterrâneas.
Os principais pontos entre as tecnologias das linhas aéreas e subterrâneas e suas características técnicas distintas, trazem vantagens e desvantagens em cada uma delas. Enquanto nas linhas aéreas, predominam as perdas ôhmicas, devido à maior resistência e exposição térmica, nas linhas subterrâneas, as perdas ôhmicas são menores, entretanto, maiores são as perdas dielétricas e capacitivas. A capacitância de uma linha subterrânea, sendo superior à da aérea, provoca um maior efeito térmico e requer um material de reaterro em sua envoltória imediata, com maior capacidade de dissipação térmica.
Com relação à faixa de servidão, na linha aérea, sua largura depende do ângulo de balanço do cabo, classe de tensão e ambiente, ficando em torno de 20 a 70 metros. A linha subterrânea, possui campo elétrico nulo e campo magnético, que se reduz, exponencialmente, ao se afastar de sua linha de centro. Logo, no caso subterrâneo, a largura da servidão fica em torno de 5 metros, somente para permitir o acesso de equipes e equipamentos, em caso de reparo. O campo magnético está em conformidade ao estabelecido para circulação de pessoas na lei nº 11.934/2009, que determina limites à exposição aos campos elétricos e magnéticos, segundo recomendações - OMS
e ICNIRP - e aplicação regulamentada pela REN ANEEL nº 915/2021.
Nas questões de manutenção e confiabilidade, os seguintes critérios comparativos são destaques: inspeção; localização; taxa de falhas; e tempo de reparo. A inspeção da linha aérea é mais rápida - é visual e ainda conta com o auxílio de drones. Já na subterrânea, a instrumentação é mais complexa, necessitando de inspeções periódicas frequentes, para identificação de obras de terceiros ao longo da rota da linha, que em geral, costumam ser as principais causas por falhas neste tipo de instalação.
Enquanto isso, a localização de falhas em linhas aéreas, é




praticamente imediata. No caso da linha subterrânea, esta ação pode ser mais demorada. Em contrapartida, a taxa de falhas de linhas subterrâneas é bastante reduzida. Porém, enquanto o tempo de reparo das linhas aéreas é pequeno - normalmente horas ou dias - nas linhas subterrâneas, pode levar de semanas a meses, dependendo do planejamento estratégico do concessionário de transmissão.
O impacto ambiental das linhas depende da tecnologia utilizada. No caso das aéreas, elas causam maior interferência visual e paisagística, além de exigirem manejo contínuo da vegetação. Já no modelo subterrâneo, o impacto se concentra na fase de implantação, com escavações e alterações no solo. Após instaladas, as subterrâneas têm menor interferência ambiental e maior aceitação social, sendo mais adequadas para áreas sensíveis. A avaliação deve considerar o ciclo de vida da linha e as características locais.
Um ponto crucial nessa comparação, refere-se ao custo das alternativas. As linhas subterrâneas apresentam um investimento inicial de 5 a 10 vezes superior ao das linhas aéreas, principalmente devido às obras civis, materiais específicos e complexidade de implantação.
Numa análise preliminar, a adoção de uma linha aérea parece a alternativa com a melhor relação custo-benefício. Contudo, a opção da linha subterrânea pode ser a mais recomendada, principalmente nos grandes centros urbanos - senão a única viável - apesar do seu custo superior.
Diante dos atuais desafios da transição energética e da crescente complexidade dos ambientes urbanos e naturais, torna-se essencial que a escolha da tecnologia de transmissão – aérea, subterrânea ou mista – seja fundamentada em uma avaliação criteriosa e multidisciplinar. Essa decisão deve considerar as particularidades geográficas, ambientais, operacionais e socioeconômicas da região de implantação, além das tendências climáticas extremas, que afetam especialmente as linhas aéreas.
A mitigação das desvantagens de cada alternativa passa por um planejamento estratégico robusto, que inclua o detalhamento da área de implantação, o mapeamento de interferências no subsolo, estoque de sobressalentes, planos de contingência, troca de lições aprendidas entre agentes do setor, e o fortalecimento da gestão de ativos, por meio de monitoramento contínuo e análise detalhada de desempenho. Ao integrar essas práticas, aumenta-se, de forma significativa, a confiabilidade, a eficiência e a resiliência da infraestrutura de transmissão, garantindo maior segurança energética no longo prazo.
Interessante observar a experiência de alguns países europeus, que adotaram linhas subterrâneas (inclusive HVDC - longas distâncias) mesmo quando rotas aéreas seriam mais simples e econômicas. A decisão baseou-se na necessidade de elevar a resiliência energética diante de eventos climáticos extremos, reduzir impactos ambientais e atender à pressão social e regulatória. Embora o custo seja significativamente maior, mecanismos como tarifas específicas, legislação favorável e acordos compensatórios, foram empregados para viabilizar estes projetos.
*Carla Damasceno Peixoto é engenheira eletricista formada pela UFRJ, com pós-graduação em Sistemas de Potência pela COPPE/UFRJ (1983–1984) e MBA em Gestão de Pessoas pelo LACTEC-UFF (2018). É membro voluntária do Comitê de Estudo B1 (Cabos Isolados) do CIGRE-Brasil e do Study Committee B1 (Insulated Cables) do CIGRE Internacional. Atua como Coordenadora do Customer Advisory Group (CAG), além de representar neste comitê o grupo Women in Energy. Foi diretora do CIGRE-Brasil na gestão 2019–2023. Autora de artigo no livro “Energia em Transformação”, lançado em 2025.





A resiliência das Linhas de Transmissão (LTs) também é testada pelo seu desempenho frente às descargas atmosféricas. A partir desta edição, trataremos deste assunto sob a coordenação do Eng. Eletricista Rafael Alipio, que é doutor em Engenharia Elétrica pela UFMG e professor do CEFET-MG, onde coordena o Laboratório de Transitórios Eletromagnéticos (LabTEM). Possui ampla experiência em desempenho de linhas de transmissão e desenvolve pesquisas e consultorias técnicas na área.

Medição da resistência/impedância de pé de torre de estruturas de linhas de transmissão
A resistência (ou impedância) de aterramento de pé de torre é o parâmetro que mais influencia na taxa de desligamento de linhas de transmissão (LTs) por incidência direta de descargas atmosféricas. Quanto maior esse valor, maior a probabilidade de ocorrência de backflashover e, consequentemente, de desligamento. Por isso, a medição da resistência de aterramento é uma atividade essencial nas fases de comissionamento, operação e manutenção de linhas. No entanto, essa tarefa nem sempre é executada de forma adequada, seja por limitações práticas em campo, seja por interpretações equivocadas quanto ao instrumento ou método utilizados. Este fascículo apresenta recomendações técnicas e práticas para a realização dessas medições, discutindo os principais desafios e cuidados associados à medição da resistência de pé de torre de LTs.

Fig. 1–(a). Método da queda de potencial1
O método da queda de potencial corresponde à técnica de medição mais comumente empregada para a determinação da resistência de aterramento de torres de LTs. A Fig. 1(a) ilustra uma montagem que implementa o método para medição da resistência de um sistema de aterramento identificado como AT [1]. O método consiste, basicamente, na injeção de uma corrente no solo por meio do aterramento sob teste (AT), com o auxílio de um eletrodo auxiliar de corrente (EC) que fecha o circuito. A queda de tensão no solo provocada pela circulação da corrente é detectada pelo eletrodo de potencial (EP). Ao se deslocar o eletrodo EP entre AT e EC, registrando-se ponto a ponto as indicações do terrômetro, obtém-se uma curva com perfil similar ao ilustrado na Fig. 1(b). A medição da resistência de aterramento deve ser realizada na região plana da curva da Fig. 1(b), também chamada de patamar de potencial.
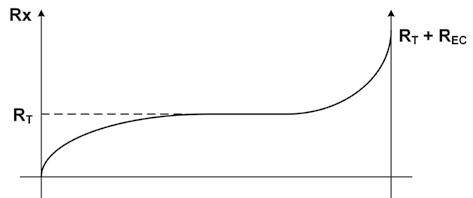
Fig. 1–(b). Região de patamar de potencial 1 Na Fig. 1(a),



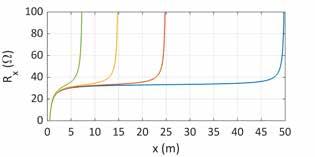
Fig. 1–(c). Influência da redução da distância ‘D’ na identificação do patamar de potencial
Vale salientar que, para obtenção da região de patamar ilustrada, o eletrodo de corrente deve ser colocado a uma distância“D”suficientemente grande do aterramento sob teste, de modo que os efeitos mútuos entre o aterramento e o eletrodo de corrente sejam desprezíveis ou, dito de outra forma, que não exista sobreposição das chamadas regiões de influência do aterramento sob teste e do eletrodo de corrente. A distância “D” adequada depende das dimensões do aterramento sob teste e é tanto maior quanto mais extenso for o sistema de aterramento, uma vez que maior será sua região de influência. Se o eletrodo de corrente não for posicionado a uma distância adequada, a região plana da curva da Fig. 1(b) pode ser de difícil identificação ou mesmo desaparecer completamente, conforme ilustrado na Fig. 1(c).
As medições devem ser realizadas pelo método da queda de potencial, conforme a NBR 15749 [1], porém considerando as características dos aterramentos de LTs, sendo as principais especificidades destacadas a seguir, em consonância com a NBR 17140 [2].
Primeiramente, a distância do eletrodo de corrente ao limite da faixa utilizada para lançamento do contrapeso deve ser igual ou superior a uma vez e meia o comprimento da maior perna do contrapeso ou a 100 m, o que for maior. As medições devem incluir um número suficiente de pontos para permitir a construção da curva de resistências aparentes (Fig. 1(b)), entre o limite da faixa de lançamento do contrapeso e o eletrodo de corrente, de modo a possibilitar a verificação da consistência da medição e a identificação clara do patamar de potencial. Note que o comprimento total do circuito de corrente inclui, além da distância entre o eletrodo de corrente e o limite da faixa de lançamento dos cabos contrapeso, o trecho entre esse limite e o ponto de conexão do instrumento à estrutura sob medição.
Há certa confusão com relação à determinação do ponto “exato” do patamar de potencial onde o valor da resistência de aterramento é definido. É comum no meio prático, e também citado em normas [1], [2], assumir que a resistência de aterramento pode ser considerada igual ao valor obtido na curva de resistências aparentes para a distância do eletrodo de potencial (EP) ao eletrodo de aterramento igual a 62% da distância entre o eletrodo de corrente e o ponto de conexão do instrumento à estrutura (distância “D” na Fig. 1(a)). Rigorosamente, esse valor é válido para o caso de um eletrodo de aterramento hemisférico enterrado em solo homogêneo, conforme deduções que podem ser consultadas em

referências clássicas do tema [3]. Portanto, o critério dos “62%” não deve ser adotado como absoluto, embora possa ser útil como referência inicial. Uma prática comum, com o intuito de agilizar as medições em campo, consiste na identificação do patamar de potencial por meio de três medições sucessivas, mantendo a posição do eletrodo de corrente e deslocando apenas a haste de potencial. As três posições da haste de potencial são definidas como: P2, situada em uma porcentagem da distância entre a torre e o eletrodo de corrente — tomada, como referência inicial, como 62% da distância entre o ponto de conexão do instrumento à estrutura e o eletrodo de corrente; P1, obtida ao mover a haste de P2 em cerca de 5% da distância entre o eletrodo de corrente e o limite da faixa de lançamento do contrapeso, para a direita; e P3, com deslocamento de P2 em cerca de 5% dessa mesma distância para a esquerda. De acordo com a NBR 15749 (2009) [1], considera-se que a medição está na região do patamar de potencial se a diferença percentual entre os valores medidos nas posições P1 e P3 em relação a P2 não ultrapassar 10%. Atendida essa condição, pode-se adotar a média das três medições como estimativa da resistência de aterramento da torre.
Por fim, considerando a variação sazonal da resistividade das camadas superficiais do solo, é desejável que as medições sejam realizadas no período mais seco e evitem, sempre que possível, os dias imediatamente posteriores a chuvas. Ainda que o circuito de corrente tenha comprimento considerável — especialmente no caso de aterramentos com longos cabos contrapeso — e, portanto, a corrente de medição penetre camadas mais profundas do solo, menos afetadas pela umidade superficial, sabe-se que a resistência de aterramento é influenciada principalmente pelas camadas mais próximas dos eletrodos.
Assim, a realização de medições com o solo ainda úmido tende a distorcer os resultados. Naturalmente, situações específicas, como

2




inspeções realizadas logo após desligamentos provocados por descargas atmosféricas, podem exigir medições nessas condições. Nesses casos, é fundamental registrar as condições do solo no momento da medição, sendo recomendável comparar o valor obtido com medições já realizadas em períodos mais secos, de modo a apoiar uma análise mais completa.
3 – DESAFIOS ENVOLVIDOS NA MEDIÇÃO DA RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO DE ESTRUTURAS DE LTS E CONSIDERAÇÕES DE ORDEM PRÁTICA DA APLICAÇÃO DO MÉTODO DA QUEDA DE POTENCIAL
Tipicamente, as medições de resistência de aterramento das estruturas de LTs são executadas em duas situações: (a) durante a construção da LT, para verificar se a resistência de aterramento da fase instalada está de acordo com o valor estabelecido no projeto, como uma das etapas do comissionamento da linha — neste caso, recomenda-se que a medição seja realizada pelo menos três dias após a compactação do reaterro da valeta do contrapeso; e (b) ao longo da vida útil da linha, como parte das atividades de vistoria e manutenção. Alguns desafios são comuns às duas situações, mas as medições realizadas após a energização — com os cabos de blindagem já instalados e interligando eletricamente as torres — apresentam dificuldades adicionais, sobretudo no que se refere à garantia de que a corrente de medição seja efetivamente injetada no aterramento da estrutura sob teste.
A realização de medições em campo, especialmente em estruturas de linhas de transmissão, apresenta diversas complexidades práticas. Além do elevado número de torres e da grande extensão envolvida, as características do terreno tornam a logística particularmente desafiadora. É comum a necessidade de transportar pessoal e equipamentos por longos trechos sem acesso facilitado. Um dos principais entraves está relacionado à topografia do traçado, que frequentemente inclui regiões com relevo acidentado, vegetação densa ou restrições ambientais. Nesses casos, pode ser necessário abrir picadas, o que demanda tempo, mão de obra especializada e, por vezes, autorizações específicas. Em áreas alagadas — como brejos —, o acesso pode ser extremamente limitado ou mesmo inviável. Já em terrenos rochosos, a cravação dos eletrodos auxiliares de corrente e de potencial pode ser comprometida, dificultando ou até impedindo a execução do método da queda de potencial.
Considerando o contexto descrito no parágrafo anterior, pode ser desafiador estender os circuitos de corrente e tensão a distâncias suficientemente grandes para obter o patamar de potencial e medir, de forma confiável, a resistência de aterramento — especialmente no caso de configurações com longos cabos contrapeso, que exigem distâncias maiores. Um erro comum nesse tipo de medição consiste em lançar o circuito de corrente com extensão insuficiente, o que pode resultar em uma curva sem patamar de potencial bem definido ou com difícil interpretação, dificultando a determinação do valor da resistência de
aterramento.
Outro desafio refere-se à necessidade de um nível de corrente adequado, fornecido pelo instrumento de medição, para que o resultado seja confiável. Dentre os elementos do circuito de medição, aquele que mais limita o nível de corrente é o eletrodo de retorno, notadamente devido à sua resistência de aterramento. Essa resistência pode ser bastante elevada, especialmente se o eletrodo for constituído por uma única haste e, adicionalmente, se o solo apresentar resistividade moderada ou alta2
A utilização de múltiplas hastes interligadas, aliada ao umedecimento do solo com solução salina ao redor das hastes, contribui para alcançar a corrente mínima necessária à medição. Quando a resistência de aterramento do eletrodo de retorno é muito alta, o instrumento pode até indicar um valor de resistência para o aterramento sob teste, mas emitir um sinal sonoro alertando que a corrente fornecida é insuficiente para garantir a exatidão especificada.
Em alguns modelos de instrumentos, pode haver apenas a exibição de uma mensagem de erro, sem qualquer valor numérico de resistência. Caso esteja disponível um amperímetro tipo alicate, a intensidade da corrente fornecida pelo instrumento pode ser monitorada por meio de sua conexão ao cabo do eletrodo de corrente. Correntes da ordem de poucos miliampères (como 5 mA ou menos) indicam a necessidade de melhoria do eletrodo de retorno, conforme as recomendações anteriores. Se, mesmo após a melhoria do eletrodo, a corrente permanecer insuficiente para uma medição confiável, é possível que características específicas do solo ao longo da linha de medição estejam interferindo no resultado. Nessa situação, recomenda-se repetir a medição em uma nova linha, afastada da linha inicialmente adotada.
Finalmente, mas não menos importante, é relevante considerar a diferenciação do procedimento de medição nos casos em que os vãos adjacentes à estrutura sob teste possuem ou não cabos de blindagem instalados. A situação em que os cabos de blindagem não estão presentes ocorre, basicamente, durante a fase de projeto. Nesse caso, a medição pode ser executada com terrômetros (convencionais ou de alta frequência) ou resistivímetros, seguindo as recomendações de aplicação do método da queda de potencial descritas anteriormente.
A medição com cabos de blindagem ou para-raios instalados envolve complexidades adicionais. Dada a conexão elétrica entre as torres da LT por meio dos cabos de blindagem, ao se realizar a medição da resistência de pé de torre utilizando um terrômetro convencional (aqui chamado de “terrômetro ou medidor de baixa frequência”), apenas uma parcela da corrente fornecida pelo instrumento percorre efetivamente o aterramento sob teste, conforme ilustrado na Fig. 2. Uma fração substancial da corrente sobe pela torre em medição e se dispersa nos aterramentos das estruturas adjacentes. Portanto, a resistência medida não corresponde à resistência da estrutura sob teste, mas sim ao paralelo das resistências de aterramento de várias estruturas interligadas pelos cabos de blindagem.
Sem o intuito de esgotar o tema, citam-se a seguir as metodologias


PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA
TENSÃO CLASSE 750/6.300A/1.000V
ATÉ ICC DE 80kA
LINHA NOTTABILE ®































CLASSE 17,5kV/630A/16kA
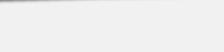
LINHA NEW PICCOLO









COM ISOLAÇÃO INTEGRAL EM SF6 OU SF6 FREE 630A/21kA ATÉ 36kV

LINHA GB-RING RMU ® |









COM ISOLAÇÃO MISTA EM SF6 630A 16kA ATÉ 36kV ® ®
LINHA MICROCOMPACT ®
BARRAMENTO BLINDADO DE BAIXA E MÉDIA TENSÃO ATÉ 6.300A IP-55 - BARRA COLADA | LINHA BX - MT
LINHA BX - E
Sensor de monitoramento SMART GIMI;
Instalação de barramentos blindados. Estudos de energia incidente; Comissionamento e startup de painéis em obra;
Retrofit em painéis elétricos de baixa e média tensão; Parametrização e comissionamento de relés de proteção; Manutenção de cabines primárias, painéis de baixa tensão, barramentos blindados.




mais tipicamente empregadas no setor elétrico para contornar o desafio descrito no parágrafo anterior:
a) Realizar a medição utilizando um equipamento que permita determinar diretamente a parcela da corrente efetivamente injetada no solo por meio dos cabos contrapeso. Isso é possível com instrumentos que empregam sondas flexíveis de corrente — como, por exemplo, bobinas de Rogowski conectadas aos pés da torre (vide Fig. 23). A partir das correntes medidas nos pés da torre e da corrente fornecida pelo instrumento, é possível estimar a parcela de corrente que flui para o aterramento e, assim, calcular a resistência de aterramento da estrutura em medição. Nesse caso, é importante que o processamento dos sinais considere que a corrente injetada no aterramento e a que sobe pela estrutura possuem natureza fasorial. Em estruturas estaiadas, recomenda-se também verificar a possível fuga de corrente pelos estais.
b) Desconectar os cabos contrapeso da base da torre e realizar a medição com um terrômetro convencional ou um resistivímetro. Os cabos contrapeso devem ser interligados provisoriamente para a medição, exceto quando houver um anel de aterramento que já realize essa função. No caso de estruturas estaiadas, os cabos contrapeso também devem ser desconectados dos estais. Essa solução pode ser laboriosa e, adicionalmente, envolver riscos de segurança para a equipe responsável, uma vez que a estrutura ficará temporariamente sem aterramento.
c) Realizar a medição com um terrômetro especial, tipicamente chamado de terrômetro de alta frequência, que permite executar a medição, com um dado nível de exatidão, sem a necessidade de desconexão dos cabos de blindagem. Dada a praticidade da solução, essa ainda é a abordagem mais amplamente adotada pelo setor de transmissão de energia, e será discutida em mais detalhes na seção a seguir.

4 – USO DO TERRÔMETRO DE ALTA FREQUÊNCIA PARA MEDIÇÃO DA RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO DE PÉ DE TORRE: ASPECTOS BÁSICOS E LIMITAÇÕES
Para contornar as dificuldades associadas à necessidade de desconexão dos cabos de blindagem ou à medição das parcelas de corrente que sobem pela torre, usualmente são empregados os chamados terrômetros de alta frequência. O princípio de funcionamento desse tipo especial de terrômetro consiste na injeção de uma corrente de frequência elevada (tipicamente 25 kHz). Nessa faixa, a impedância indutiva (ω•L=2π•f•L ? L=2pfL) dos cabos de blindagem é elevada e, em princípio, bem superior ao valor da resistência de aterramento da torre. Sob essa hipótese, praticamente toda a corrente fornecida pelo instrumento percorre o aterramento da torre sob teste, sendo desprezível a parcela que sobe pela estrutura e se dispersa nos aterramentos das torres adjacentes, mesmo com os cabos de blindagem conectados.
Algumas observações importantes com relação ao uso e à interpretação dos resultados de medição obtidos com o terrômetro de alta frequência:
1) O valor indicado pelo terrômetro de alta frequência não representa a resistência de aterramento na frequência industrial (RT), mas sim o módulo da impedância harmônica na frequência de operação do instrumento, tipicamente 25 kHz (por simplicidade, essa impedância será aqui chamada de Z25kHz). Como discutido no fascículo 3 desta série, a impedância de





aterramento de pé de torre apresenta comportamento dependente da frequência e, considerando os comprimentos de cabos contrapeso e as condições de solo típicas do Brasil, nessa frequência (e no entorno dela) o aterramento tende a apresentar comportamento predominantemente capacitivo, resultando em Z25kHz< RT, conforme ilustrado na Fig. 3, para uma configuração típica de cabos contrapeso.
2) Dada a frequência elevada utilizada nas medições com esse tipo de instrumento, recomenda-se o uso de um cabo de corrente blindado, com o intuito de mitigar os efeitos de indução no circuito de tensão. No caso de os circuitos de corrente e tensão percorrerem trajetos paralelos, o cabo blindado deve se estender por todo o trecho paralelo ao cabo de tensão. A partir desse ponto, caso sejam necessárias emendas para aumentar a distância entre a torre e o eletrodo de retorno, podem ser utilizados cabos de medição comuns. Uma alternativa adicional para minimizar os efeitos de indução é o afastamento físico entre os cabos dos circuitos de corrente e de tensão. Embora essa seja uma medida simples, pode ser particularmente laboriosa em locais onde há necessidade de abertura de picada em mata densa.
3) A utilização do terrômetro de 25 kHz deve ser vista com cautela no caso de LTs instaladas sobre solos de alta resistividade. Isso porque, nesses casos, a impedância de aterramento Z25kHz tende a ser elevada, e a suposição de que a impedância dos cabos de blindagem é muito maior do que Z25kHz pode deixar de ser estritamente válida. Muitas vezes, essa condição não é avaliada durante campanhas de medição. O circuito representativo da Fig. 4 auxilia na compreensão dessa questão e permite a obtenção de uma fórmula prática simplificada, que pode ser empregada pela equipe responsável pela medição para uma primeira estimativa dos erros associados ao uso do terrômetro de alta frequência, considerando a fuga de corrente para os vãos adjacentes. Aplicando técnicas simples
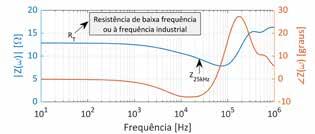

Fig. 3 – (a) módulo e ângulo da impedância harmônica de aterramento entre 10 Hz e 1 MHz da configuração ilustrada em (b) composta por quatro cabos contrapeso de 50 m enterrados em um solo de 1000 Ωm. Exemplo retirado do fascículo 3 desta série
de análise ao circuito da Fig. 4 e desprezando a impedância Zth, a relação entre a “resistência de aterramento verdadeira” – RT, na Fig. 4 – e aquela que seria indicada pelo terrômetro de alta frequência, Rmedida, é dada por:
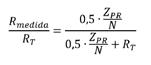

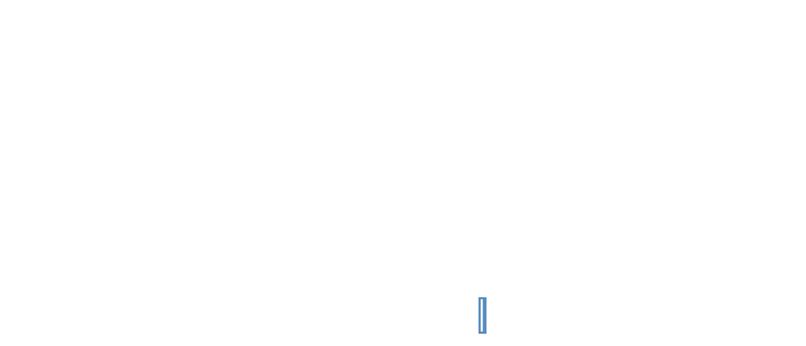

em que:


ZPR/N é a impedância equivalente dos cabos de blindagem, sendo N o número de cabos de blindagem.
ZPR=j2πfLPR, em que f = 25 kHz (frequência de operação do instrumento) e LPR = 2×10-7 ∙ ln ln (2h/a) ∙ lvão é a indutância aproximada de um cabo de blindagem de raio a e a uma altura do solo h, e para um vão de comprimento lvão
RT é a resistência de aterramento da torre sob medição, considerada por simplicidade como um número real puro.
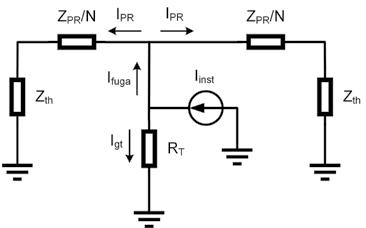
Fig. 4 – Circuito representativo simplificado para avaliação dos erros associados ao uso do terrômetro de alta frequência. Iinst representa a corrente injetada pelo instrumento, e Zth é a impedância de Thévenin vista a partir das extremidades dos vãos adjacentes. Os demais elementos estão definidos no texto
A Fig. 5 apresenta curvas obtidas a partir da aplicação da equação anterior, considerando uma estrutura com dois cabos de blindagem de aço a uma altura média de 30 m. Observa-se que: i) os erros do terrômetro aumentam com a diminuição do comprimento do vão (menor impedância total dos cabos de blindagem) e com o aumento da resistência de aterramento (maior fuga de corrente pelos cabos de blindagem); ii) o valor indicado pelo instrumento tende a ser inferior ao valor real da resistência (ou impedância) da estrutura sob teste. Vale destacar que essas curvas foram obtidas com base em uma equação simplificada, cujo objetivo é permitir uma estimativa prática dos erros associados ao uso do terrômetro de alta frequência em uma dada condição de resistência de pé de torre. Estimativas mais precisas, com modelos eletromagnéticos rigorosos para os componentes da LT, podem ser encontradas em [4]. Nesses estudos, os erros estimados com o uso do terrômetro de alta frequência geralmente são menores que os da equação simplificada, evidenciando seu caráter conservador e utilidade em diagnósticos preliminares.
4) É comum a ideia, frequentemente difundida por fabricantes de terrômetros, de que o valor medido a 25 kHz seria mais representativo para o comportamento do aterramento frente a descargas atmosféricas, por empregar uma frequência mais elevada. Costuma-se, adicionalmente, associar os 25 kHz à forma de onda padronizada 10/350 µs, tipicamente adotada como referência para primeiras descargas positivas, sob o argumento de que uma senóide de 25 kHz possui tempo entre o cruzamento por zero e o valor máximo igual a T/4 = 10 µs, sendo T = 1/25 kHz. Essa interpretação, porém, é tecnicamente questionável: correntes reais de descargas possuem espectro amplo, de corrente contínua a alguns MHz, e não uma

frequência única. Além disso, descargas negativas são mais relevantes para o desempenho de LTs do que as positivas, com tempos de frente típicos da ordem de 4–5 µs, e não 10 µs. Assim, a frequência de 25 kHz não deve ser tomada como equivalente a formas de onda padrão, nem como mais representativa do comportamento do aterramento de pé de torre frente a descargas reais.

Fig. 5 – Erros estimados do uso do terrômetro de alta frequência em função do comprimento do vão e para diferentes valores de resistência de pé de torre
Para além das discussões apresentadas ao longo deste fascículo, cabe uma recomendação prática final. A medição da resistência de aterramento de estruturas de linhas de transmissão é uma atividade de campo laboriosa, frequentemente realizada em condições adversas, como calor intenso e vegetação densa. Por isso, o planejamento prévio é essencial. Antes de iniciar a campanha de medições, é importante analisar as configurações de aterramento das estruturas envolvidas, em especial o comprimento dos cabos contrapeso, que determina a extensão necessária para o circuito de corrente. Sempre que possível, e considerando as fases de aterramento presentes em uma LT, recomenda-se a preparação de kits de medição com cabos de diferentes comprimentos para os circuitos de tensão e corrente. Também é fundamental dispor de um conjunto de hastes e de um meio prático para sua interligação em campo, permitindo a redução da resistência do eletrodo de retorno sem improvisações. Em atividades de campo como essa, praticidade e preparação adequada fazem toda a diferença.
REFERÊNCIAS
1. ABNT, “NBR 15749: Medição de resistência de aterramento e de potenciais na superfície do solo em sistemas de aterramento,” Rio de Janeiro, 2009.
2. ABNT, “NBR 17140: Aterramento de estruturas e dimensionamento de cabos para-raios de linha de transmissão aérea de energia elétrica,” Rio de Janeiro, 2023.
3. G. F. Tagg, Earth Resistances. London, U.K.: Newnes, 1964.
4. R. Segantini, R. Alipio, and J. O. S. Paulino, “Reliability of High-Frequency Earth Meters in Measuring Tower-Footing Resistance: Simulations and Experimental Validation,” Energies, vol. 18, no. 8, p. 1959, Apr. 2025, doi: 10.3390/en18081959.
#O autor agradece as valiosas contribuições técnicas do Eng. Fernando Diniz (Engenheiro de Linhas de Transmissão da área de Expansão da Argo Energia) e à revisão técnica do texto realizada pela Dra. Naiara Duarte (Professora Visitante do CEFET-MG).






Um dos pioneiros no estudo do arco elétrico no Brasil, o engenheiro eletricista com mais de 44 anos de experiência em proteção e análise de sistemas, Claudio Mardegan, acompanhado de outros dois grandes especialistas no tema: Márcio Bottaro e Filipe Resende, coordenarão, ao longo de 2025, este fascículo, que tem como objetivo tratar da nova Norma de Arco Elétrico, que está em fase final de elaboração na ABNT.



Seleção, uso e cuidados com EPIs para proteção contra perigos térmicos de arcos elétricos
PRINCÍPIOS DE PROTEÇÃO ABORDADOS NA NOVA NORMA
A Norma ABNT NBR 17227 aborda em sua seção 6 os Equipamentos de Proteção Individual mais importantes que devem ser considerados na análise de riscos que envolvem os efeitos térmicos de arcos elétricos.
A Seção 6 foi elaborada com base em documentos internacionais relacionados aos processos de seleção, utilização e cuidados com EPIs empregados contra os efeitos térmicos de arcos elétricos como o Draft do comitê internacional IEC TC78 – Live Working, documento IEC DTR 63375: Live Working – Guidance For Risk Assessment, Selection, Use, Care And Maintenance of Personal Protective Equipment Against The Hazards of an Electric Arc, e também a NFPA 70E: Standard for Electrical Safety in the Workplace.
É importante destacar que o comitê TC78 interrompeu os trabalhos no draft do IEC 63375, optando por seguir com um projeto de especificação técnica mais resumido, atualmente em fase final de publicação: o IEC DTR 62491: Live Working - Guidance for End Users for the Selection of Personal Protective Equipment Against the Hazards of an Electric Arc. No entanto, o conteúdo do IEC DTR 63375, ao qual especialistas brasileiros tiveram acesso por meio de sua participação em grupos internacionais, apresentava uma abordagem mais
detalhada e aprofundada sobre o tema. Por isso, foi considerado uma fonte de informações mais relevante para os objetivos do projeto ABNT NBR 17227.
Os itens de EPIs mais comuns abordados na nova norma brasileira são:
- Vestimentas de proteção – peças de vestuário;
- Proteção dos olhos, face e cabeça;
- Proteção das mãos.
Se atentarmos a legislação atual, as Vestimentas de proteção térmica já são objeto de certificação compulsória no Brasil [1], e os EPIs para proteção dos olhos, face e cabeça possuem regulamentação e são passíveis de obter um Certificado de Aprovação – CA, não dentro de um processo de certificação, mas com base em relatórios de ensaio. Em resumo, são EPIs tipificados em nossa legislação para a proteção contra efeitos térmicos de arcos elétricos [2].
No tocante a proteção das mãos, parte fundamental na constituição da proteção do trabalhador nos trabalhos sob tensão, não existe a mesma tipificação, entretanto, o grupo de projeto do IEC TC78, PT 63232 Electric arc performance of hand protection equipment - Test standard, vem trabalhando num conjunto de normas onde





membros especialistas brasileiros fazem parte dos estudos, o que traz uma possibilidade real de termos documentos técnicos nacionais em breve para esse EPI, e consequentemente uma base normativa para fundamentar junto ao Ministério do Trabalho sua tipificação.
Atualmente, existem outros tipos de EPIs que não são levados em conta no projeto, mas que podem influenciar significativamente a análise de riscos com base na estimativa de energia incidente de arcos elétricos. No documento nacional eles não são abordados pela falta de harmonização de normas internacionais nas comissões técnicas brasileiras. É o caso de temas específicos como por exemplo proteção para trabalho em altura e impermeáveis, ambos equipamentos que podem agregar proteção térmica contra arcos elétricos, mas não existe consenso nacional sobre como avaliar essa proteção dentro de um conceito de sistema de proteção, e tampouco sua tipificação para os perigos térmicos de arco elétrico existe.
Adicionalmente, a norma traz de forma generalizada orientações importantes sobre critérios de uso, como por exemplo conforto e liberdade de movimentos, tópicos essenciais típicos do processo de seleção de vestimentas de proteção térmica e demais EPIs associados, que devem ser levados em conta num processo de análise crítica
da seleção, pois afetam adversamente as atividades e podem gerar negligência e mau uso dos equipamentos, comprometendo a efetividade da proteção [3,4].
HIERARQUIA DA PROTEÇÃO E O PROGRAMA DE ANÁLISE DE RISCOS PARA EPI
Herdado das premissas da NFPA 70E nas ações em prol da proteção do trabalhador, a seção 6 da norma brasileira coloca questões fundamentais da hierarquia da proteção, elencando uma sucessão de ações por nível de prioridade na análise de riscos de EPI:
1. Eliminar:condição de segurança de equipamentos, instrumentos e condutores elétricos em uma condição de segurança no trabalho sem o perigo de arco elétrico;
2. Substituir: equipamentos, instrumentos, procedimentos, ferramentas, uso de automação;
3. Controle de Engenharia: incremento das distâncias de trabalho, redução do tempo de atuação das proteções, instalação de supressores de arco, redução das correntes de falta, entre outros;




4. Conscientização: programas de treinamento e envolvimento em simulações de campo;
5. Controles administrativos: procedimentos e instruções de trabalho bem planejadas;
6. Utilização de EPI: normalmente ao se concluir que o risco residual inclui a possibilidade de acidentes com arco elétrico, também sendo possível considerar sua utilização como forma de mitigação do risco residual, na ausência ou ineficiência das demais medidas.
Durante o processo de análise de riscos para a implementação de EPI, ou como normalmente é chamado o Programa de EPI para proteção contra arcos elétricos, a Norma brasileira estabelece como fundamental estabelecer que a análise de risco é um processo dinâmico que não se destina a situações momentâneas, e deve ser constantemente revisado sempre que ocorrem mudanças em equipamentos, em ajustes no sistema.
Deve-se destacar um dos requisitos fundamentais dessa análise de riscos relacionado a definição de que trabalhadores ou integrantes de uma equipe de trabalho podem sofrer alguma lesão em função de um arco elétrico e o papel de cada um na atividade laboral sujeita ao perigo, não se esquecendo daqueles trabalhadores que não estão diretamente envolvidos nas atividades propriamente ditas, mas que estão nas proximidades das instalações ou equipamentos elétricos.
Cabe ressaltar que, ainda que não colocado de forma explícita nesta edição da norma nacional, a eliminação do perigo por meio do desligamento ou trabalho desenergizado deve ser tratada com muita cautela, por fatores como circuitos energizados nas vizinhanças, caminhos de propagação de calor e chamas como dutos e passagens, e demais fatores que hoje encontram-se em discussão nos fóruns internacionais, relacionados a influências de instalações próximas às instalações sob intervenção.
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS NORMATIVOS –CARACTERIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO EPI
A Norma brasileira está alinhada com a legislação em termos de portaria e normas regulamentadoras, no entanto, considera, como já abordado anteriormente, a proteção das mãos, fundamental para o desempenho dos trabalhos sob tensão, mas que não encontra amparo por não ser tipificada no arcabouço legal nacional. Adicionalmente, a norma já trabalha alinhada com a nova norma de requisitos e ensaios para proteção ocular, facial e da cabeça, ABNT NBR IEC 62819 [5], que difere das atuais disposições da legislação nacional que ainda faz referência à norma ASTM F2178 [6] e também o conjunto ASTM F1959 [7] (ensaios de caracterização têxtil) e ASTM
5 Associação Brasileira de Normas Técnicas. Trabalhos sob tensão — Protetores
F2621 [8] (ensaio em manequim para corpo de prova final) quando tratamos especificamente de Balaclavas.
Dentro dessa perspectiva, a norma considera a conformidade dos diferentes EPIs para proteção contra arcos elétricos como atendendo a requisitos de caracterização mediante valores numéricos de resistência ao arco elétrico, que serão referência no processo de seleção dos EPIs.
No caso das vestimentas de proteção térmica, as mesmas devem ter atribuído, por meio de ensaios laboratoriais, valores de resistência ao arco elétrico em valores numéricos de ATPV (valor de desempenho térmico ao arco elétrico), EBT (energia-limite de rompimento) ou ELIM (limite máximo de energia incidente). Tais parâmetros são oriundos da norma técnica ABNT NBR IEC 61482-2 [9], que também estabelece outros requisitos para a avaliação da conformidade dos materiais componentes e da vestimenta de proteção térmica. Os parâmetros de resistência ao arco elétrico são detalhados na norma técnica de ensaios IEC 61482-1-1 [10], norma de referência adotada no Brasil para a caracterização de tecidos e para avaliação de vestimentas em seus modelos finais, quanto a proteção contra efeitos térmicos de arcos elétricos.
Para a proteção ocular, facial e da cabeça, o processo é um pouco mais complexo, e pode envolver combinação de materiais têxteis e não têxteis, como o de lentes e visores, e a resistência ao arco elétrico para os mesmos é dada em valores numéricos de ATPV, EBT ou ELIM, seguindo a norma ABNT NBR IEC 62819. O processo de avaliação e caracterização desse tipo de proteção é de alta complexidade e requer um aprofundamento nas normas técnicas. Poucas referências bibliográficas estão disponíveis para essa finalidade, mas, assim como no processo de caracterização e avaliação de desempenho das vestimentas de proteção térmica, é fundamental que o responsável por um programa de EPI para arco elétrico compreenda nos detalhes e tenha capacidade de analisar relatórios técnicos de tais EPIs.
As luvas de proteção térmica, ou mesmo sistemas de luvas de proteção que envolvam os requisitos de proteção contra arcos elétricos, também terão sua resistência ao arco elétrico em valores numéricos de ATPV e EBT, seguindo a normas ASTM F2675 [11], lembrando que nesse caso não existe CA para esse perigo por falta de tipificação na legislação nacional. O processo de avaliação e caracterização de luvas também requer um aprofundamento nas normas técnicas e apresenta detalhes técnicos muito importantes, particularmente com relação a combinação com outros EPIs. Novamente, é fundamental que o responsável por um programa de EPI para arco elétrico compreenda nos detalhes e tenha capacidade de analisar relatórios técnicos das luvas e sistemas de luvas de proteção térmica.

6 entradas de tensão (3 fontes / 3 cargas), protegidas por varistores
Painel f rontal com LEDs de indicação e botões de acesso direto
Painel RGB HT com touch-screen e telas configuráveis
Software aplicativo gratuito para programação, oscilografia, etc






Seguindo indicações básicas e mais generalizadas com relação ao uso, manutenção, armazenamento e cuidados essenciais com os EPIs para proteção contra efeitos térmicos de arcos elétricos, a seção 6 da ABNT NBR 17227 traz as recomendações básicas de uso e cuidados, remetendo sempre a observação das condições e restrições estabelecidas pelos fabricantes dos EPIs.
SELEÇÃO NA NOVA NORMA BRASILEIRA
O processo de seleção de EPIs dentro da norma segue as diretrizes da NFPA 70E, utilizando o processo de Análise da Energia Incidente. É importante ressaltar que, da mesma forma que nos comitês que tratam o tema no IEC TC78, o Método de Categoria de EPI, também apresentado na NFPA 70E, não é considerado na publicação nacional.
Mesmo sendo muito utilizado e aclamado por fabricantes e usuários de EPIs por questões de distorções que foram provocadas no mercado ao longo das décadas, o Método de Categoria de EPI, que possui uma sistemática de seleção muito distinta do Método de Análise pela Energia Incidente, não foi considerado no texto nacional por razões óbvias, de não permitir uma análise profunda levando em conta os detalhes que compõem as estimativas de energia incidente nos locais de interesse das instalações elétricas. A conhecida confusão que não se limita ao mercado brasileiro, de misturar as metodologias de análise de energia incidente com a de categoria de EPI, e que faz alguns usuários estabelecerem metas de categoria mínima sem conhecer de fato os fundamentos de cada método, foi um dos fatores determinantes para esta escolha.
A seleção desta forma, com abordada na norma brasileira, considera grupos “sugeridos” de EPIs, dentro de duas faixas de energia incidente, destacando-se que: A seleção deve ser realizada com base na energia incidente estimada, sendo que o EPI deve possuir uma resistência ao arco elétrico (ATPV, EBT ou ELIM) superior ou igual ao valor de energia incidente calculado, sempre atentando-se para as diferentes distâncias de trabalho, e levando em conta possíveis níveis de energia mais elevados para partes do corpo que podem ficar mais próximas ao arco elétrico, nos pontos estabelecidos como mais críticos no processe de análise de energia incidente.
A norma ABNT NBR 17227 incorpora duas tabelas (tabelas 11 e 12) que colocam as recomendações de seleção pela metodologia de energia
incidente da NFPA 70E e que são adaptações resumidas da própria norma norte-americana. As tabelas compreendem faixas de energia de 1,2 cal/cm² até 12 cal/cm² inclusive, e energias acima de 12 cal/cm². Aqui é importante observar que o valor de 12 cal/cm² tem base em estudos laboratoriais e não configura um novo limiar de categoria de EPI, algo que começou a ser ventilado inadvertidamente no mercado de equipamentos brasileiros.
O detalhamento da seleção em aspectos essenciais, lembrando que o aprofundamento no tema é uma recomendação de capacitação das normas internacionais e consequentemente não cabe no texto normativo, é sempre dividido nas três proteções principais abordadas pelo documento:
1. Proteção do tronco, pernas ou corpo inteiro: Seleção das Vestimentas de proteção térmica;
2. Proteção dos olhos, face e cabeça: Seleção dos equipamentos de proteção visual e cabeça;
3. Proteção das mãos: Seleção de luvas de cobertura, luvas que incorporam proteção térmica mesmo que para outras finalidades, e sistemas de proteção das mãos.
A combinação de EPIs é abordada, chamando a atenção do usuário e do responsável pela análise de riscos, algo muito importante e destacado nos documentos internacionais já mencionados. Esse fator pode ser restrito ao conjunto utilizado para proteção de uma parte do corpo, como peças de vestuário de vestimentas de proteção térmica, e também na interação de diferentes partes do corpo a serem protegidas. Algumas condições relacionadas a correlação de conforto com desempenho máximo no uso dos EPIs são abordadas na norma. O conceito de uso integral das vestimentas de proteção térmica, por exemplo, é herdado do draft da IEC, bem como as observações relacionadas às tecnologias mais apropriadas a cada atividade laboral, levando para a análise crítica do usuário a preocupação com a relação custo-benefício e vida útil real da proteção.
Seguindo indicações básicas e mais generalizadas com relação ao uso, manutenção, armazenamento e cuidados essenciais com os EPIs para proteção contra efeitos térmicos de arcos elétricos, a seção 6 da ABNT NBR 17227 traz as recomendações básicas de uso e cuidados, remetendo sempre a observação das condições e restrições estabelecidas pelos fabricantes dos EPIs.
Um fator de atenção importante é tratado na norma com relação à importância da observância da manutenção das propriedades protetivas dos EPIs ao longo do tempo. Orientações sobre avaliação da vida útil e auditorias de EPIs em uso não fazem parte do escopo da norma nessa edição, mas são ações sugeridas no texto já que ganham cada vez mais importância no cenário internacional e tendem a ser objeto de documentos específicos no futuro.




O segmento de transmissão é estratégico e condicionante para o desenvolvimento nacional. Neste fascículo, teremos como mentor o Eng. Eletricista Rogério Pereira de Camargo, que é atualmente uma referência nacional no tema. Com MBA em Gestão de Negócios pelo IBMEC, Pós-Graduação em Eng. de Manutenção pela UFRJ, Admin. pela FAAP, cursando Pós-graduação Master em ESG e Gestão Estratégica da Sustentabilidade pela FIA Business School, Rogério Camargo atua desde 1994 como Gestor e Diretor Técnico na implantação e operação e manutenção de projetos de transmissão para investidores nacionais e internacionais.


Por Rogério Pereira de Camargo, Bruno Laurindo¹, e Leonardo Silva²
Neste Capítulo V iremos abordar a metodologia e o processo de planejamento da expansão da transmissão realizada pelos órgãos de regulação, planejamento e operação do sistema interligado. São discutidas as diretrizes estratégicas que orientam os estudos de expansão, os critérios técnicos utilizados para definição dos empreendimentos, bem como os instrumentos normativos e os mecanismos de coordenação entre as instituições envolvidas. Além disso, o capítulo destaca a importância do planejamento integrado diante das novas demandas do setor elétrico, como a inserção de fontes renováveis, a crescente eletrificação da economia e necessidade da transição energética por conta das mudanças climáticas e a chegada de grandes consumidores, como os data centers e a produção de hidrogênio verde.
INTRODUÇÃO
O setor elétrico brasileiro enfrenta um momento decisivo com a crescente demanda por energia, impulsionada por tecnologias emergentes tais como hidrogênio verde e data centers, exige uma expansão robusta e eficiente do sistema de transmissão. Este capítulo explora o processo de planejamento da expansão da transmissão, os investimentos projetados e os desafios associados a esse crescimento.
O PROCESSO DE PLANEJAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO
O planejamento da expansão da transmissão no Brasil é coordenado por órgãos como o Ministério de Minas e Energia (MME), a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). O processo é estruturado em etapas, documentadas nos relatórios R1 a R5.
Esse processo culmina na publicação do Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica (POTEE) emitido pelo MME, que orienta os leilões de transmissão realizados pela ANEEL. E neste sentido, a EPE e o ONS utilizam-se de modelos computacionais avançados para simular o comportamento do sistema elétrico a partir da compatibilização da visão de planejamento (PET – Plano de Expansão da Transmissão / PELP –Plano de Expansão de Longo Prazo) e da visão operativa (PAR/PEL – Plano de Operação Elétrica de Médio Prazo), respectivamente. Esses modelos consideram variáveis como crescimento da carga, integração de fontes renováveis e necessidades de reforço da rede. O objetivo principal é garantir a confiabilidade e a eficiência do sistema elétrico, minimizando custos operacionais e impactos socioambientais. Para isso, são utilizados diversos




softwares especializados em diferentes etapas do planejamento e operação do sistema.
O NEWAVE, desenvolvido pelo CEPEL (Centro de Pesquisas de Energia Elétrica), é empregado no planejamento energético de médio e longo prazo, permitindo a otimização da operação de sistemas hidro-termo-eólico interligado, levando em consideração variáveis como: Crescimento do PIB (Produto Interno Bruto), Expansão da carga (demanda de energia), Condições hidrológicas, Capacidade de geração, Intercâmbio entre subsistemas. Já o DECOMP é voltado para o planejamento da operação de médio prazo, possibilitando uma análise detalhada do despacho semanal do sistema elétrico. Entretanto, quando falamos especificamente de expansão do sistema de transmissão com foco em longo prazo (e considerando cenários macroeconômicos como o PIB), o software mais associado é o ANS (Análise de Necessidade de Sistema), que é o módulo da Ferramenta de Apoio ao Planejamento da Expansão da Transmissão desenvolvida também pelo CEPEL e utilizada pela EPE, mas que de forma integrada a todo o processo, os outros softwares e modelos também participam.
Para avaliação do carregamento da rede e identificação de necessidades de reforço, utiliza-se o ANAREDE, uma ferramenta essencial para análise de fluxo de potência em sistemas elétricos. A segurança e confiabilidade do sistema são verificadas por meio do ANAFAS, aplicado em estudos de curto-circuito e análise de contingências. Além disso, o PSS®E (Power System Simulator for Engineering) é amplamente utilizado para simulações de estabilidade e análise dinâmica do sistema.
O fluxograma apresentado na Figura 1 ilustra o processo de estudos para expansão do sistema de transmissão de energia elétrica no Brasil, recomendados pelos Grupos de Estudos da Transmissão (GETs) coordenados pela EPE. O processo inicia com a projeção de carga e a análise do PDE anterior, seguidos pelo Plano de Geração, que fundamentam a elaboração do Plano Decenal de Expansão de Transmissão (PDET). Paralelamente, são realizados estudos socioambientais e estudos de concepção da expansão, resultando no Plano de Expansão Planejado (PEP) – com horizonte de 10 anos
– e na versão inicial do Plano de Expansão da Transmissão (PET). Em seguida, são conduzidos estudos complementares para revisão e refinamento do PET. Esse fluxo integrado assegura que a expansão da transmissão seja técnica, econômica e ambientalmente robusta, alinhada ao Plano Nacional de Energia. No tocante ao processo de planejamento até a publicação do edital de Leilão da ANEEL, destaca-se que são etapas bem estruturadas e definidas envolvendo diversos órgãos e culminando na realização de leilões pela ANEEL. As principais fases são:
1 - Identificação de Necessidades: A EPE, em conjunto com o MME e o ONS, identifica necessidades de expansão com base em projeções de crescimento da carga, integração de novas fontes de geração e demandas regionais.
2 - Elaboração dos Relatórios R: O relatório R1, produzido pela EPE, serve como documento inicial de planejamento, reunindo as informações essenciais sobre os novos empreendimentos de transmissão. Todas as instalações incluídas no Plano de Expansão da Transmissão (PET) têm sua justificativa técnica e econômica embasada nos respectivos relatórios R1, garantindo que as propostas estejam alinhadas com as necessidades do sistema elétrico nacional.
Além do R1, são elaborados os relatórios R2, R3, R4 e R5. Em alguns casos, esses relatórios são desenvolvidos ou coordenados pela EPE. No entanto, de forma geral, os estudos são solicitados pelo MME a empresas do setor elétrico, as quais são ressarcidas posteriormente pelos vencedores dos leilões em que tais instalações são licitadas. Tais relatórios têm os seguintes enfoques:
• R1 - Estudo de Planejamento: Avalia a viabilidade técnicoeconômica e socioambiental das alternativas de expansão.
• R2 - Projeto Básico: Detalha as especificações técnicas das instalações propostas.
• R3 - Estudo de Traçado: Define o traçado preliminar das linhas de transmissão, considerando aspectos ambientais e fundiários.
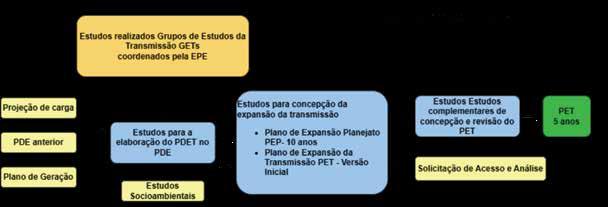



• R4 - Estudo de Impacto Ambiental: Analisa os impactos ambientais das obras e propõe medidas mitigadoras.
• R5 - Estudo Fundiário: Avalia os aspectos relacionados à aquisição de terrenos e direitos de passagem.
3 - Análise e Aprovação: Os relatórios são submetidos ao MME e à ANEEL para análise e aprovação.
4 - Consulta Pública: A ANEEL realiza consultas públicas para receber contribuições da sociedade sobre os projetos propostos.
5 - Publicação do Edital: Após a consolidação das contribuições e ajustes necessários, a ANEEL publica o edital de leilão, contendo as especificações técnicas, prazos e condições para participação.
6 - Realização do Leilão: Empresas interessadas participam do leilão, e os vencedores recebem a concessão para construir e operar as instalações de transmissão.
7 - Acompanhamento e Fiscalização: A ANEEL acompanha a implementação dos projetos, garantindo o cumprimento dos prazos e das especificações estabelecidas.
Esse processo estruturado assegura que a expansão da transmissão elétrica atenda às necessidades do sistema com eficiência, confiabilidade e sustentabilidade. Do planejamento até a publicação do edital, observamos a ilustração a seguir, na Figura 2 com os passos de forma mais objetiva.

INVESTIMENTOS PROJETADOS E EXPECTATIVAS DE CRESCIMENTO
O Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 2034 prevê investimentos de R$ 128,6 bilhões na expansão do sistema de transmissão até 2034. Desses, R$ 88,3 bilhões serão destinados à construção de 30 mil km de novas linhas de transmissão, e R$ 40,3 bilhões à ampliação da capacidade de transformação das subestações. A expansão da transmissão é motivada por diversos fatores, dentre eles, destacamos:
1 - Integração de Fontes Renováveis: O crescimento da geração de energia solar e eólica, especialmente nas regiões Nordeste e Norte, exige a construção de novas linhas para escoar essa energia até os centros de consumo.
2 - Atendimento a Novas Cargas Eletrointensivas: Projetos de hidrogênio verde e a expansão de data centers aumentam significativamente a demanda por energia elétrica.
3 - Melhoria da Resiliência da Rede: A expansão visa fortalecer a confiabilidade do Sistema Interligado Nacional (SIN), reduzindo vulnerabilidades e aumentando a capacidade de resposta a eventos críticos.
Além do horizonte decenal, o Plano Nacional de Energia (PNE) 2050 oferece uma visão estratégica para os próximos 25 anos. O PNE destaca a importância de investimentos contínuos em infraestrutura de transmissão para acomodar a transição energética, incluindo a eletrificação da economia como a de setores industriais e de transporte, e a integração de tecnologias emergentes.
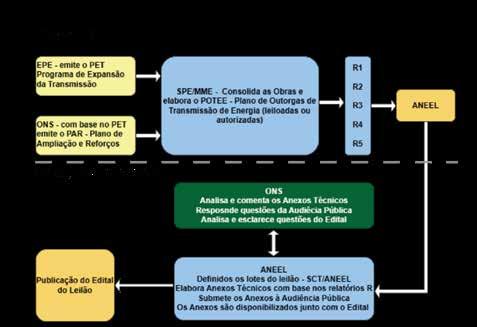



O PNE 2050, elaborado pela EPE e coordenado pelo MME, é o principal instrumento de planejamento estratégico de longo prazo do setor energético brasileiro. Ele não tem caráter vinculante, como o PDE, mas serve como “bússola estratégica” para orientar políticas públicas, decisões de investimentos e o desenvolvimento tecnológico no setor até o ano de 2050. A seguir, podemos salientar os principais pontos e seus objetivos:
• Oferecer uma visão de futuro sobre o setor energético nacional;
• Analisar cenários de longo prazo para suprimento e demanda de energia;
• Identificar desafios e oportunidades no processo de transição energética;
• Orientar políticas públicas que promovam segurança energética, competitividade, sustentabilidade e inclusão social.
O plano apresenta diferentes cenários exploratórios sendo analisados e consideradas variáveis como o crescimento econômico, as políticas de carbono e meio ambiente, as inovações tecnológicas, a integração regional da América do Sul, as mudanças no padrão de consumo, dentre outros. Estes cenários ajudam a preparar o setor para futuros incertos, permitindo maior resiliência e flexibilidade estratégica.
A expansão planejada do sistema de transmissão é fundamental para aproveitar o potencial das fontes renováveis, garantindo que a energia gerada chegue aos consumidores, e obviamente sem esquecer de atender ao crescimento da demanda, impulsionado por novas cargas. E não menos importante, assegurar a confiabilidade e a eficiência do sistema elétrico nacional.
Esses investimentos são essenciais para sustentar o desenvolvimento econômico e a transição para uma matriz energética mais limpa e sustentável no Brasil. Além disso, o plano alerta para gargalos que já surgem no escoamento da geração renovável e no atendimento de cargas intensivas, como data centers e indústrias de hidrogênio verde, destacando a necessidade de antecipação do planejamento.
NOVAS DEMANDAS: DATACENTERS E PRODUÇÃO DE HIDROGÊNIO
A eletrificação da economia e a necessidade de transição energética por conta das mudanças climáticas estão criando demandas significativas por energia elétrica. Estudos indicam que datacenters e produção de hidrogênio podem representar até 16% do consumo de energia no Brasil até 2060, frente aos 2% atuais.
Em um cenário de economia globalizada e comprometida com a descarbonização, a vasta oferta de geração renovável no Brasil tem despertado um significativo interesse de investidores internacionais que em parceria com empreendedores locais, vislumbram o Brasil como um polo estratégico para a implantação desses projetos. Essas cargas, que variam de centenas de MW a unidades de GW, tendem a apresentar um perfil de consumo constante ao longo do dia, e possuem intenção de se conectarem nos próximos anos.
A integração de grandes projetos de hidrogênio verde e data centers ao Sistema Interligado Nacional (SIN) impõe desafios significativos que demandam ações coordenadas e estruturantes. A primeira delas é a urgente expansão da capacidade de transmissão, fundamental para evitar sobrecargas e assegurar o fornecimento confiável de energia às novas cargas intensivas. Além disso, torna-se necessário o desenvolvimento de políticas regulatórias específicas, que incentivem investimentos robustos em infraestrutura elétrica, garantindo previsibilidade e segurança jurídica para investidores. Por fim, é essencial um planejamento energético estratégico e antecipado, capaz de mapear as futuras necessidades do sistema, ajustando a malha elétrica nacional à nova realidade imposta pela transição energética e pela eletrificação acelerada da economia.
DATACENTERS
Para o caso dos Datacenters este crescimento é impulsionado pela crescente demanda por serviços de internet, computação em nuvem e ascensão de tecnologias como a inteligência artificial (IAs) e o Big Data.





Dados da IEA (International Energy Agency) afirmam que enquanto uma busca no Google consome 0,3 Wh de eletricidade, uma solicitação ao ChatGPT consome 2,9 Wh, cerca de 10 vezes mais energia.
Dados de projetos que solicitaram conexão à Rede Básica junto ao MME indicam um expressivo aumento na demanda prevista para Datacenters, com projeção de atingir 2,5 GW até 2037 – considerando apenas novos empreendimentos nos estados de São Paulo (9 projetos totalizando 1.602,1 MW), Rio Grande do Sul (1 projeto de 50 MW) e Ceará (2 projetos totalizando 876 MW). Esses dados corroboram a necessidade de reforços do sistema elétrico, principalmente, na região central da cidade de São Paulo e regiões de Campinas, Bom Jardim e Itatiba.
Esses estudos visam garantir a capacidade necessária para suprir o crescimento da carga associada aos Datacenters.
O hidrogênio verde (H₂V), produzido por meio da eletrólise da água utilizando fontes renováveis, é considerado um vetor energético crucial para a descarbonização de setores industriais e de transporte. No Brasil, estima-se que os eletrolisadores destinados à produção de H₂V possam representar até 8% do consumo elétrico nacional até 2060, impulsionados tanto pelo mercado interno quanto por oportunidades de exportação, especialmente para países europeus.
No entanto, a integração desses projetos ao Sistema Interligado Nacional (SIN) enfrenta desafios significativos. Em 2025, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) rejeitou pedidos de conexão de projetos de produção de hidrogênio verde, alegando riscos de sobrecarga no SIN. Essa situação evidencia a necessidade de expansão e modernização da infraestrutura de transmissão para acomodar essas novas cargas.
Até o momento, foram submetidos cerca de 15 gigawatts (GW) em pedidos de conexão para data centers até 2035. No entanto, a capacidade instalada projetada é de apenas 4,75 GW, considerando as limitações atuais do setor elétrico. A ANEEL também rejeitou projetos de data centers em 2025, citando riscos de sobrecarga no SIN. Ainda assim, até 2038, espera-se 35,9 GW de demanda acumulada em projetos de produção de hidrogênio na região do Nordeste. Esse valor corresponde a mais que o dobro do pico de carga atual de toda a região Nordeste, em torno de 16 GW, medida no fim de 2023.
Em agosto de 2024, foi sancionada a Lei nº 14.948/2024, que institui o Marco Legal do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono. Essa legislação estabelece diretrizes para a produção, comercialização e uso do hidrogênio de baixa emissão de carbono no Brasil, visando promover a descarbonização da matriz energética e incentivar o desenvolvimento dessa indústria emergente.
Entre os instrumentos criados pela lei, destacam-se o Regime Especial de Incentivos para a Produção de Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono (Rehidro), que prevê benefícios fiscais para
projetos do setor, e o Sistema Brasileiro de Certificação de Hidrogênio (SBCH2), que estabelece critérios para a certificação voluntária do hidrogênio produzido no país, com base na intensidade de emissões de gases de efeito estufa. Além disso, a lei define como hidrogênio de baixa emissão de carbono aquele cuja produção resulte em emissões iguais ou inferiores a 7 kg de CO₂ equivalente por kg de hidrogênio até 31 de dezembro de 2030.
Essas medidas visam criar um ambiente regulatório seguro e atrativo para investimentos, promovendo a competitividade do hidrogênio produzido no Brasil e posicionando o país como um potencial líder na transição energética global
Por fim, é essencial um planejamento energético estratégico e antecipado, capaz de mapear as futuras necessidades do sistema, ajustando a malha elétrica nacional à nova realidade imposta pela transição energética e pela eletrificação acelerada da economia.
A expansão da transmissão desempenha um papel estratégico na sustentação do crescimento econômico e na integração de novas fontes de geração ao Sistema Interligado Nacional. Para garantir a continuidade do fornecimento com qualidade, segurança e modicidade tarifária, é essencial que o processo de planejamento seja conduzido de forma coordenada entre os órgãos reguladores, planejadores e operadores do sistema. Diante dos novos desafios impostos pelas mudanças climáticas, a necessidade da transição energética, aliada à eletrificação da economia e pela diversificação dos perfis de consumo, torna-se ainda mais relevante a realização de investimentos estruturantes, baseados em diretrizes técnicas sólidas e na antecipação das transformações do setor elétrico brasileiro.
Acompanhem os próximos capítulos do nosso fascículo, Transmissão: Caminhos da Energia. Até lá!
Bruno de Mello Laurindo é Engenheiro Eletricista formado pela UFRJ com Mestrado em Engenharia Elétrica pela UFF e MBA em Gestão de Negócios pela USP em andamento. Experiência consolidada no setor de transmissão de energia há 8 anos, atuando atualmente na Coordenação de Engenharia e Operação & Manutenção (O&M).
² Leonardo Francisco da Silva é Bacharel em Engenharia Elétrica pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Rio de Janeiro, e Mestre em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Desde 2023, é doutorando em Eletrônica de Potência no Programa de Engenharia Elétrica da UFRJ. Desde 2005, participa de projetos de pesquisa no Laboratório de Tecnologias em Processamento de Energia (LEMT) do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa em Engenharia (COPPE/UFRJ). Seus interesses de pesquisa incluem eletrônica de potência aplicada a sistemas de potência, geração distribuída, qualidade de energia, energia renováveis, equipamentos FACTS, transmissão em corrente contínua HVDC e filtros ativos.






Ao longo do ano, este fascículo reunirá uma coletânea dos melhores artigos apresentados durante o Congresso de Inovação na Distribuição de Energia - CIDE, realizado pelo Grupo O Setor Elétrico, em Parceria com a Abradee, no Transamerica Expo Center, em São Paulo, entre os dais 5 e 6 de junho de 2024.
Gestão de Riscos de Segurança do Trabalho no Setor Elétrico – aplicação
1. Andressa Ruviaro Almeida, CEMIG-D
2. Wellington Gleydson Cabral,CEMIG-D
3. Ciceli Martins Luiz, CEMIG-D
4. Breno Fernandes Ribeiro, Global Serviços Especializados
5. Leonardo Luiz da Rocha, CEMIG-D
6. Ricardo Cardoso dos Santos, CEMIG-D
1 - INTRODUÇÃO
Peter Drucker possui uma teoria de que se não pode medir não é possível gerenciar. (SILVESTRE, 2016). E para gerenciar, analisar e tomar decisões a respeito dos dados de uma empresa, passa-se pelas fases de: coleta, tratamento exploração, modelagem e transformação em informação (interpretação e comunicação dos resultados). (Rei Advogado, 2024).
Com isso as empresas utilizam de softwares e soluções de inteligência e análise de dados para negócios, tais como: Sisense, Zoho Analytics, Oracle Analytics, Reveal, Looker, IBM Cognos Analytics, Trevor.io e o Power BI da Microsoft. Este último, Power BI, é o mais popular e o que será abordado neste trabalho.
As vantagens de se utilizar uma ferramenta como Power BI da Microsoft é que ela permite conexão com inúmeras fontes de dados, controles de versões, mobilidade de acesso, facilita a criação de relatórios (gráficos e tendências), etc. (COUTINHO, 2021).
Ao abordar a temática da Gestão de Riscos de Segurança do Trabalho no Setor Elétrico, é necessário compreender que uma cultura de segurança bem-sucedida capacita as pessoas ao mesmo tempo que melhora a qualidade, produtividade e os lucros da empresa. (ERPLAN apud Dupont, 2021).
Sob a luz da Curva de Bradey da Dupont, uma metodologia que mostra a maturidade e o processo de uma companhia e quando é sustentável, as taxas de lesões são próximas de zero. Isso porque as
pessoas se sentem envolvidas e capacitadas a agir em conformidade, se apoiando e se desafiando.
Essa metodologia possui quatro níveis: reativo, dependente, independente e interdependente. No qual o melhor estágio para uma cultura organizacional é o interdependente, pois:
• Reativo (instintos naturais): as pessoas não assumem responsabilidades, acreditam que o acidente é uma questão do acaso e que incidentes acontecerão.
• Dependente (supervisão): as pessoas veem a segurança como uma questão de seguir as regras. As taxas de incidentes diminuem, porém, a administração acredita que a segurança poderia ser gerenciada se as pessoas seguissem as regras.
• Independente (indivíduo): os indivíduos assumem a responsabilidade por si próprios. As pessoas acreditam que a segurança é pessoal e que podem fazer a diferença com suas próprias ações. Isso reduz ainda mais os incidentes.
• Interdependente (coletivo): as equipes se sentem responsáveis pela segurança e assumem a responsabilidade por si mesmas e pelos outros. As pessoas não aceitam padrões baixos e riscos, elas conversam ativamente com outros colaboradores para entender seu ponto de vista e acreditam que a verdadeira melhoria pode ser alcançada e que podem reduzir as taxas de lesões próximas de zero. Este é o estágio em que se alcança a maturidade da cultura de segurança.




Portanto quanto maior a cultura de segurança, maior o envolvimento de todos os níveis hierárquicos para a redução dos incidentes de trabalho, com a apropriação da responsabilidade por si e por todos de evitar ou corrigir quaisquer desvios ou possibilidades de lesões e assim estabelecer uma cultura de segurança fortalecida. (ERPLAN apud Dupont, 2021).
2. OBJETIVO
Neste trabalho, o objetivo, é apresentar uma análise de como melhorar a gestão de riscos de segurança do trabalho no setor elétrico por meio da aplicação da ferramenta Radar de Percepção de Riscos que foi desenvolvido no Power BI pela Cemig Distribuição.
3. DIAGNÓSTICO: PROBLEMA ENFRENTADO
O setor elétrico é um dos motores essenciais do desenvolvimento econômico, gerando cerca de 300 mil empregos, de acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) em 2023 desempenhando um papel crucial na melhoria da qualidade de vida das pessoas, fornecendo eletricidade confiável para residências, empresas e indústrias também desempenha um papel fundamental na busca da sustentabilidade ambiental. (ABINEE, 2023).
Apesar de sua importância, este setor enfrenta desafios significativos relacionados à segurança no trabalho. Em 2022, a Plataforma SMARTLAB registrou aproximadamente 13 mil acidentes no setor elétrico, com 131 fatalidades. Esses números destacam a necessidade de uma abordagem proativa para melhorar a segurança dos trabalhadores. (SMARTLAB, 2024).
Na Cemig Distribuidora, no setor de expansão, em 2023, ocorreram 71 acidentes dos quais 1 foi fatal. Por esses números de
acidentes serem expressivos, questiona-se como e quais inovações e tecnologias de suporte poderiam ser implantadas para dar suporte na gestão de riscos de segurança do trabalho no setor elétrico, e se elas seriam suficientes e como melhorar as condições existentes e melhorar a percepção de riscos dos colaboradores para melhorar o posicionamento da curva de Bradley da companhia.
A Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG com o propósito de fomentar seu banco de dados e otimizar os processos de saúde e segurança do trabalho contratou um sistema de apoio, uma aplicação que opera em dispositivos móveis (mesmo quando não há internet) e através de navegador de internet para registrar as análises preliminares de risco (APR), observações da liderança, inspeções de segurança, criação de planos de ação, chamada ClickSegurança da empresa Global Card. (GlobalCard, 2024).
A companhia também possui um sistema chamado Gerenciamento Eletrônico de Documentos – GEDEX, no qual são cadastrados documentos enviados via internet por fornecedores. (CEMIG, 2018). Observando o módulo de Gerenciamento Eletrônico de Conteúdo Corporativo de Segurança do Trabalho da Cemig - GESET, cada colaborador possui os documentos relacionados, contrato de trabalho, função (cargo), empresa relacionada, entre outros.
Através do acesso ao Banco de Dados das informações registradas no Click Segurança e do GESET, analisando apenas os dados das equipes de construção da expansão da média e da baixa tensão da distribuição desde janeiro de 2023, a Cemig Distribuição elaborou um relatório gráfico através da ferramenta da Microsoft Power BI.
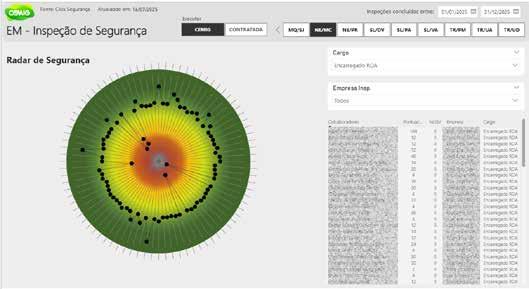




O Radar de Segurança, ou Radar de Percepção de Riscos, tem como concepção mostrar de maneira gráfica o comportamento dos colaboradores em relação a segurança do trabalho, as percepções de risco.
Para elaborar esse painel foi necessário utilizar os registros do Click Segurança, das Inspeções de Segurança, que registra: Não Conformidade Leve (NCL), Não Conformidade Grave (NCG), Não Conformidade Gravíssima (NCGV), e inspeção sem Não Conformidade (NC). Para cada tipo de NC foi endereçado um índice multiplicador para pontuar e ranquear os colaboradores, ou equipes (através do encarregado) sobre o tipo de comportamento dos melhores (pontuação mais alta) aos piores (pontuação mais baixa) nos comportamentos de saúde e segurança do trabalho. Essa pontuação obedece a seguinte fórmula:
Pontos = -2NCL-4NCGV-7NCGV+2 inspeção sem NC (1)
Em que:
NCL: Não Conformidade Leve; NCGV: Não Conformidade Grave; NCGV: Não Conformidade Gravíssima; Inspeção sem NC: inspeção sem Não Conformidades
No radar possui três cores, das quais, quando um colaborador está simbolizado com um ponto na área vermelha é porque possui pontuações negativas, se estiver na área amarela é porque possui pontuação positiva, mas também possui NCGV e os demais estão na área verde.
Desta forma é possível atuar pontualmente nas equipes que estão com mais dificuldades de obter um comportamento seguro, ou seja, podemos fazer um acompanhamento dessas equipes para melhorar, seja com treinamentos, reforçando os Procedimentos de Operação Padrão etc. Ou mesmo reconhecer as equipes com melhores desempenhos de segurança, reforçando o valor a vida.
5. RESULTADOS/PRODUTOS OBTIDOS
A aplicação da ferramenta Radar de Percepção de Riscos, subsidiou dois Programas da Cemig Distribuidora: Capacete de Ouro e Apadrinhamento de Encarregados.
O Programa Capacete de Ouro visa reconhecer equipes de construção da expansão da média e da baixa tensão da distribuição com melhores desempenho de segurança do trabalho e é observado pelo ranqueamento do encarregado. E desde 2023 até o momento o evento ocorreu duas vezes, para sete regionais e as análises foram condizentes com o que o Painel do Power BI de Radar de Percepção de Riscos apresentou. Ou seja, otimizou e deixou imparcial o processo de avaliação das equipes.
Já o Programa Apadrinhamento de Equipes de construção da expansão da média e da baixa tensão da distribuição, por meio da análise dos encarregados, foi iniciado em fevereiro de 2024 e das equipes que tiveram os piores desempenhos em segurança, algumas
com dois meses de atuação, acompanhamento, já melhoraram o desempenho enquanto outras precisaram repassar por reciclagens e até renovações na equipe e seguem em acompanhamento. A quantidade de equipes de construção que trabalham com a expansão da distribuição está na ordem de 530 na Cemig Distribuidora.
A inovação na distribuição com a aplicação da ferramenta do radar de percepção de riscos, quando utilizado para subsidiar programas da companhia como capacete de ouro e apadrinhamento de equipes demonstrou que a aplicação de atenção no foco, em equipes que possuem mais probabilidade de ter um acidente pelo maior número de não conformidades, bem como reconhecer aquelas que são exemplo para as demais equipes permitiu uma gestão de riscos de segurança do trabalho no setor elétrico mais aplicado e também registrar melhora na cultura de segurança, na qualidade, e na produtividade ou seja demonstrou ser uma tecnologia de suporte eficaz.
ABINEE. Nível de Emprego do Setor Eletroeletrônico. Publicado em agosto/2023. Disponível em < http://www.abinee.org.br/abinee/ decon/decon22.htm#:~:text=Com%20esta%20%C3%BAltima%20 retra%C3%A7%C3%A3o%2C%20o,267%2C3%20mil%20trabalhadores). >. Acessado em 13.10.2023
CEMIG. Instruções para o Cadastro de Fornecedor. Gerência de Estratégia de Suprimento – PS/ES – Revisão 01/05/2018. Disponível em < https://www.cemig.com.br/wp-content/uploads/2020/07/A11-FAQDuvidas-Frequentes.pdf > Acessado em 25.04.2024.
CLARIFY. Aprenda a criar painéis visuais de suporte a decisão com Microsoft Power BI. CLARIFY Excelência em Cursos de Tecnologia e Gestão. Disponível em < Apostila Microsoft Power BI (fatecead.com.br) > Acessado em 25.04.2024.
COUTINHO, Thiago. Confira 7 Benefícios do Power BI para as Empresas. Publicado em 05.05.2021. Disponível em < 7 benefícios do Power BI para as empresas (voitto.com.br) > Acessado em 25.04.2024.
ERPLAN. Como a Curva de Bradley da DuPont pode ajudar a melhorar o desempenho de segurança na empresa? Publicado em 27 de outubro de 2021. Disponível em < https://www.erplan.com.br/noticias/como-acurva-de-bradley-da-dupont-pode-ajudar-a-melhorar-o-desempenhode-seguranca-na-empresa/ > Acessado em 15. Out. 2023.
GlobalCard. ClickSegurança. Disponível em < Click Segurança | Segurança & Qualidade (globalcad.com.br) > Acessado em 25.04.2024
Rei Advogado. Entendendo o Processo de Análise de Dados: Um Guia completo. Disponível em < Entendendo o Processo de Análise de Dados: Um Guia Completo (reyabogado.com) > Acessado em 25.04.2024.
SAMARTLAB. Iniciativa Smartlab – Promoção do Trabalho Decente Guiada por Dados. Disponível em < Smartlab - Promoção do Trabalho Decente (smartlabbr.org) > Acessado em 25.04.2024
SILVESTRE, Luane. Se você não pode medir, não pode gerenciar: aplicando a teoria de Peter Drucker. Empreendedorismo. Publicado em 16.06.2026. Disponível em < Se você não pode medir, não pode gerenciar (profissionaldeecommerce.com.br) > Acessado em 25.04.2024.
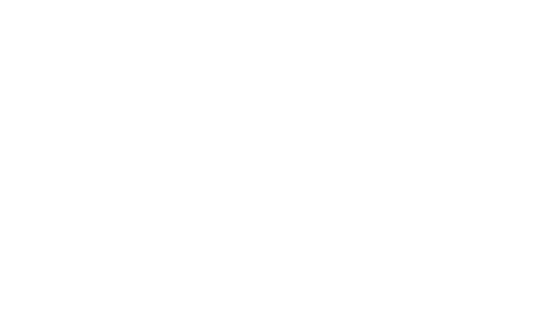

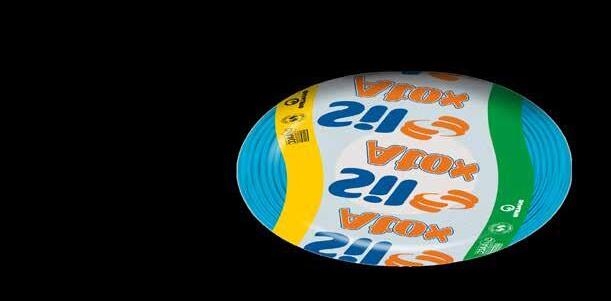
Confira a linha completa de produtos em nosso site.
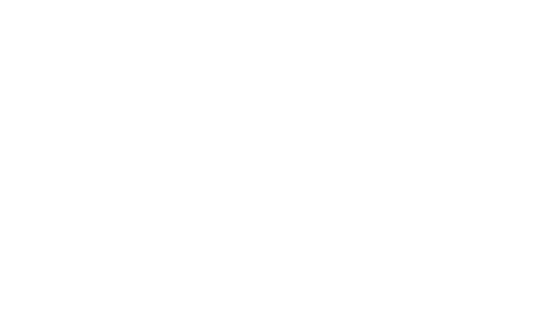
Segurança em instalações elétricas começa com quem realmente entende do assunto. A SIL está preparada para acompanhar as mais recentes atualizações do setor, garantindo altos padrões de qualidade e proteção em sistemas de baixa tensão. Qualidade, confiabilidade e compromisso com o futuro da eletricidade.

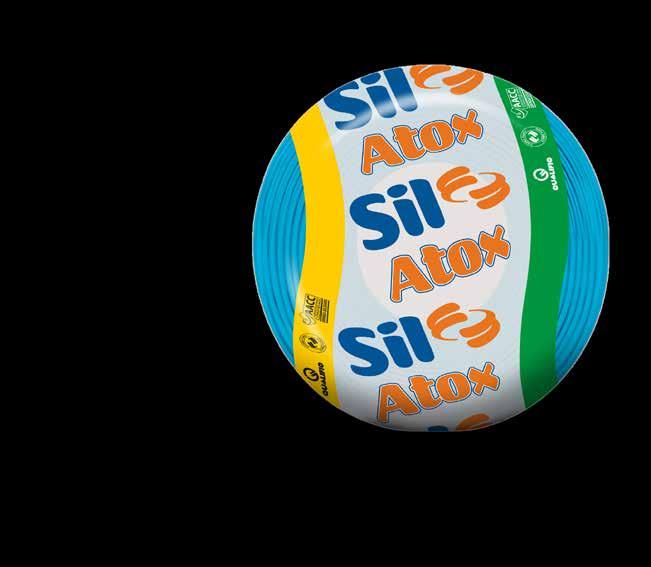

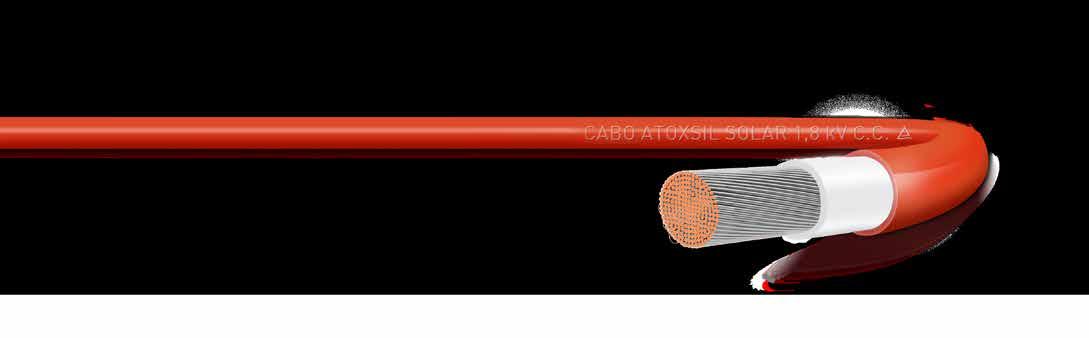


SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE | Por Aguinaldo Bizzo
INTERFACE DA NR10 COM DEMAIS NORMAS REGULAMENTADORAS
É comum surgirem dúvidas e conflitos quanto a aplicação da NR10 nos diversos segmentos produtivos e instalações elétricas existentes, visto que várias NRs possuem tópicos específicos sobre instalações elétricas. Assim, é importante conhecer os diversos dispositivos legais intrínsecos à interpretação e aplicação da NR10 e sua interface com as demais normas.
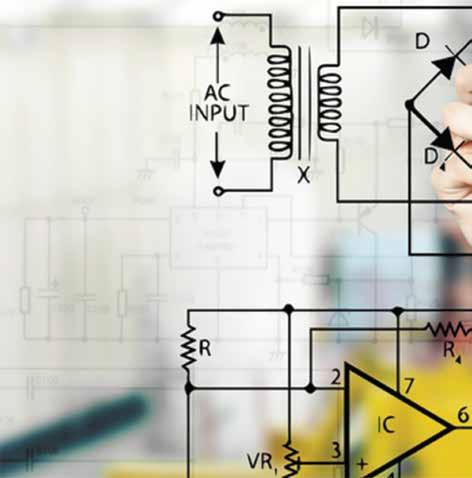
Destaque para a Portaria Nº 787, de 27 de novembro de 2018, que “Dispõe sobre as regras de aplicação, interpretação e estruturação das Normas Regulamentadoras, conforme determinam o art. 155 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943, e o art. 13 da Lei n.º 5.889, de 8 de junho de 1973, e estabelece normas para a consolidação dos atos normativos que menciona”.
Atenção para as Disposições Preliminares: Art. 1º Esta portaria estabelece as regras de aplicação, interpretação e estruturação de Normas Regulamentadoras - NR, relacionadas à segurança e saúde no trabalho e às condições gerais de trabalho.
As NRs são classificadas em normas gerais, especiais e setoriais. §1º Consideram-se gerais as normas que regulamentam aspectos decorrentes da relação jurídica prevista na Lei sem estarem condicionadas a outros requisitos, como atividades, instalações, equipamentos ou setores e atividades econômicos específicos. §2º Consideram-se especiais as normas que regulamentam a execução do trabalho considerando as atividades, instalações ou equipamentos empregados, sem estarem condicionadas a setores ou atividades econômicos específicos. §3º Consideram-se setoriais as normas que regulamentam a execução do trabalho em setores ou atividades econômicos específicos.
A NR10 é classificada como “NR Especial”, e, dessa forma, algumas considerações devem ser feitas:
Art. 8º Em caso de conflito aparente entre dispositivos de NR, sua solução darse-á pela aplicação das regras seguintes:
I. NR setorial se sobrepõe à NR especial ou geral.
II. NR especial se sobrepõe à geral.
Art. 9º Em caso de lacunas na interpretação de NR, aplicam-se as seguintes regras: I. NR setorial pode ser complementada por NR especial ou geral quando aquela não contemple todas as situações sobre determinado tema; II. NR especial pode ser complementada por NR geral.

Assim, é fundamental o conhecimento e entendimento quanto à correta aplicação das NRs para o tema “fator de risco eletricidade” nos diversos cenários elétricos onde são realizadas atividades de operação e manutenção de instalações elétricas quanto aos possíveis quesitos aplicáveis face a hierarquia estabelecida na Portaria 787.
Exemplos em NR setoriais como as NR18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, NR 22 - Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração, NR-37 – Segurança e Saúde em Plataformas de Petróleo, que possuem “Itens Específicos” denominados Instalações Elétricas com estratificação de requisitos técnicos, que obrigatoriamente, devem ser atendidos na interpretação e aplicação da NR10, nesses segmentos produtivos. Importante destacar que essas NRs em “gênero” remetem ao atendimento às prescrições da NR10, vide o que segue:
NR18: Instalações Elétricas - 18.21.1 As execuções das instalações elétricas temporárias e definitivas devem atender ao disposto na Norma Regulamentadora n.º 10 (NR-10) - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade - do Ministério do Trabalho;
NR22: Instalações elétricas- 22.18.1 A organização deve atender o disposto na NR-10 e as demais disposições deste capítulo;
NR37: Instalações elétricas- 37.19.1 Aplica-se à plataforma, quanto às instalações elétricas, o disposto neste capítulo e na NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade). 37.19.1.1 Na omissão da NR-10, aplicam-se, nesta ordem, as normas técnicas nacionais, as normas técnicas internacionais ou o Código MODU, quando couber.
Exemplo em norma geral, a NR 01 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, especificamente dos treinamentos ministrados na modalidade de ensino a distância ou semipresencial 1.7.9, os treinamentos podem ser ministrados na modalidade de ensino a distância ou semipresencial, desde que atendidos os requisitos operacionais, administrativos, tecnológicos e de estruturação pedagógica previstos no Anexo II desta NR. 1.7.9.1. O conteúdo prático do treinamento pode ser realizado na modalidade de ensino a distância ou semipresencial, desde que previsto em NR específica.
Ressalta-se que a NR10 não considera a realização de cursos na modalidade EAD, principalmente tópicos que, obrigatoriamente, devem ser realizados de forma presencial, como por exemplo Primeiros Socorros e Combate a Incêndios.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO |
Por Paulo Barreto
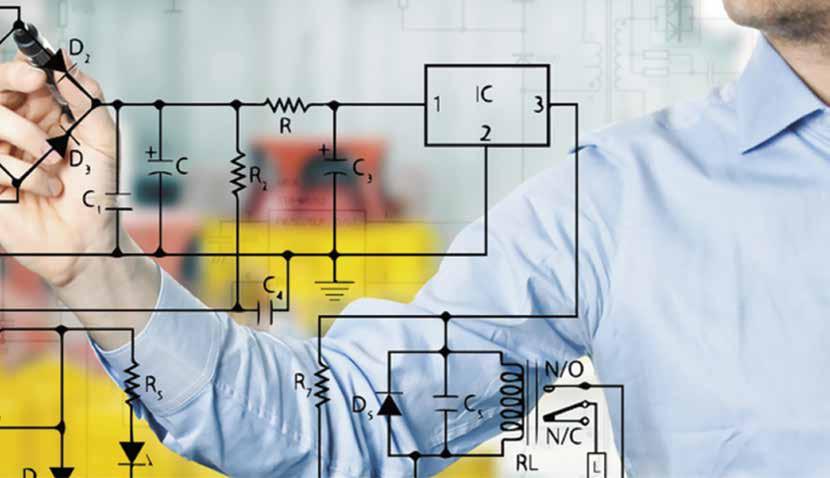

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BANHEIROS
Os locais contendo banheira, chuveiro ou ducha (simplificadamente, banheiros) são considerados pela norma ABNT NBR 5410, como “local específico”, por terem risco de choque elétrico mais elevado do que em outros ambientes, devido à redução da resistência do corpo humano, ao contato com o potencial da terra e à utilização de equipamentos elétricos em condições de corpo molhado.
Apesar de todo o rigor que a referida norma vem adotando nas prescrições para esse ambiente ao longo dos anos, o projeto de norma recentemente submetido à consulta nacional inseriu novidades interessantes para permitir a instalação de equipamentos que vêm sendo cada vez mais utilizados em banheiros, tais como secador de mão, toalheiro aquecido, vaso sanitário elétrico (com aquecedor de assento), entre outros.
Também aproveitou e atualizou uma condição que não fazia muito sentido, que é a do volume 3, já que os requisitos para esse volume, a rigor, não tinham nada de específico.
Desta forma, os principais destaques do projeto de revisão da ABNT NBR 5410, para essa subseção, são:
1 – Eliminação do volume 3, mantendo-se os volumes 0, 1 e 2 (ver figura 1).
2 – Correção da altura do volume 2, de 3 m para 2,25 m (como sempre foi).
3 – Permissão para a instalação de interruptor no volume 2, conforme segue:
9.1.4.3.1.c) No Volume 2 admite-se o uso de dispositivo de comando, desde que:
— atenda o disposto na alínea b, anterior; ou — seja do tipo interruptor que atenda aos requisitos da ABNT NBR NM 60669-1, o circuito possua tensão não superior a 240 V e esteja protegido por dispositivo DR com corrente diferencial-residual nominal não superior a 30 mA.
4 – Permissão para instalação de tomada no volume 2, conforme segue:
9.1.4.3.1.d) No volume 2 admite-se o uso de tomada de corrente, desde que o circuito possua tensão não superior a 240 V e esteja protegido por dispositivo DR com corrente diferencial-residual nominal não superior a 30 mA.
5
– Permissão para instalação de certos equipamentos nos volumes 1 e 2, conforme segue:
9.1.4.4.2 Nos volumes 1 e 2 somente podem ser instalados equipamentos classe I ou II, como aquecedores de água elétricos, aquecedores para
toalha (toalheiro), desembaçadores de espelho, equipamentos de exaustão, hidromassagem dentre outros.
As classificações de equipamentos (I, II, III) se referem à proteção contra choques elétricos e constam da norma IEC 61140. De forma simplificada, para entendimento do requisito acima, pode-se descrever como:
• Classe I: é o equipamento que possui condições de ligação à terra, seja por meio de plugue com pino de aterramento, seja com cordão de ligação que possua o condutor de proteção (PE).
• Classe II: é o equipamento dotado de dupla isolação ou isolação reforçada, e possui o símbolo indicado na figura 2 (um quadrado inscrito em outro). Nesse caso, a proteção contra choques elétricos está destinada à camada isolante. Esse tipo de equipamento não possui condições de ligação à terra. E assim deve ser.
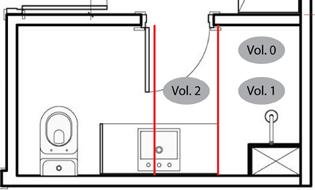

A norma ABNT NBR 14039:2021 traz prescrições fundamentais para o projeto e instalação de subestações de transformação em MT. Conforme aquela norma técnica, as subestações de transformação são instalações destinadas a transformar qualquer das grandezas da energia elétrica, dentro das tensões definidas na norma como média tensão, isto é, maior do que 1 kV e menor ou igual a 34,5 kV.
Somos advertidos de que deve ser dispensada especial atenção aos aparelhos com carcaça sob tensão, os quais devem ter sinalização indicadora de perigo.
A subseção 9.4.3 prescreve que, para instalações industriais, o uso de transformadores refrigerados a óleo não é permitida:
Quando a subestação de transformação fizer parte integrante da edificação industrial, somente é permitido o emprego de transformadores a seco. Quando forem utilizados disjuntores com líquidos isolantes não inflamáveis, estes devem ter um volume de líquido por polo inferior a 1 L.
Esta subseção ainda nos lembra em uma nota:
NOTA: Considera-se como parte integrante da instalação, o recinto não isolado ou desprovido de paredes de alvenaria e portas corta-fogo.
Já em 9.4.4 existe a seguinte prescrição quando a edificação for para uso residencial ou comercial:
Quando a subestação de transformação fizer parte integrante da edificação residencial e/ou comercial, somente é permitido o emprego

de transformadores a seco, mesmo que haja paredes de alvenaria e portas corta-fogo. Quando forem utilizados disjuntores com líquidos isolantes não inflamáveis, estes devem ter um volume de líquido por polo inferior a 1 L.
Já na subseção 5.2.1 temos prescrição de que as pessoas, os componentes fixos de uma instalação elétrica, bem como os materiais fixos adjacentes, devem ser protegidos contra os efeitos prejudiciais do calor ou radiação térmica produzida pelos equipamentos elétricos, particularmente quanto a:
a) riscos de queimaduras;
b) prejuízos no funcionamento seguro de componentes da instalação;
c) combustão ou deterioração de materiais.
Para a proteção contra queimadura, a subseção 5.2.3 prescreve que:
As partes acessíveis de equipamentos elétricos que estejam situadas na zona de alcance normal não devem atingir temperaturas que possam causar queimaduras em pessoas e devem atender aos limites de temperatura indicados na tabela 1. Todas as partes da instalação que possam, em serviço normal, atingir, ainda que por períodos curtos, temperaturas que excedam os limites dados na tabela 1, devem ser protegidas contra qualquer contato acidental. Os valores da tabela 1 não se aplicam a componentes cujas temperaturas limites das superfícies expostas, no que concerne à proteção contra queimaduras, sejam fixadas por normas específicas.

Tabela 1 — Temperaturas máximas das superfícies externas dos equipamentos elétricos dispostos no interior da zona de alcance normal Tipo de superfície
Superfícies de alavancas, volantes ou punhos de dispositivos de controle manuais:
– metálicas
– não-metálicas
Superfícies previstas para serem tocadas em serviço normal, mas não destinadas a serem mantidas à mão de forma contínua:
– metálicas
– não-metálicas
Superfícies acessíveis, mas não destinadas a serem tocadas em serviço normal:
– metálicas
– não-metálicas
NOTAS
1 Esta prescrição não se aplica a materiais cujas normas fixam limites de temperatura ou de aquecimento para as superfícies acessíveis.
2 A distinção entre superfícies metálicas e não-metálicas depende da condutividade térmica da superfície considerada. Camadas de tinta e de verniz não são consideradas como modificando a condutividade térmica da superfície. Ao contrário, certos revestimentos não condutores podem reduzir sensivelmente a condutividade térmica de uma superfície metálica e permitir considerá-la como não-metálica.
3 Para dispositivos de controle manuais, dispostos no interior de invólucros, que somente sejam acessíveis após a abertura do invólucro (por exemplo, alavancas de emergência ou alavancas de desligamento) e que não sejam utilizados frequentemente, podem ser admitidas temperaturas mais elevadas.


*Paulo Edmundo Freire da Fonseca é engenheiro eletricista e Mestre em Sistemas de Potência (PUC-RJ). Doutor em Geociências (Unicamp), membro do Cigre e do Cobei e também atua como diretor na Paiol Engenharia.
Quando vou fazer um modelo geoelétrico para um projeto de aterramento, a primeira coisa que faço é produzir um gráfico log-log no Excel, com todas as curvas de resistividades aparentes levantadas para a área do empreendimento. A análise deste gráfico frequentemente revela curvas patológicas, que apresentem uma ou mais das seguintes características: valores superiores a 20.000 Ωm; calombos causados por pontos fora da curva, os chamados outliers; curva não suave, apresentando oscilações que parecem uma montanha russa; cauda que faz uma forte inflexão para cima no trecho final (tipicamente nos valores correspondentes aos espaçamentos AB de 50 m para cima); e ausência de um padrão coletivo para o conjunto de curvas de uma determinada área.
Feita a filtragem dos valores considerados não representativos do universo de resistividades local, há que se fazer a média geométrica dos valores obtidos para cada espaçamento de medição, para se obter a curva média de resistividades aparentes. Desconfie de uma curva média com aparência de uma reta cruzando a diagonal do gráfico ou com uma cauda que faz uma forte inflexão para cima. De maneira geral, estes padrões são indicativos de um embasamento muito resistivo, que o equipamento de medição não foi capaz de sondar.
Obtida a curva média de resistividades aparentes, há que se a inverter, para a obtenção do modelo geoelétrico. Desconfie de modelos geoelétricos que apresentem uma ou mais das seguintes características:
- Valores de resistividades e de espessura de camadas com casas decimais;
- Modelos com apenas duas camadas;
- camadas com resistividades superiores a 20.000 Ωm; ou
- Camadas contíguas com resistividades com mais de uma década de diferença.
Não se pode ter expectativa de nenhuma precisão do modelo obtido. A modelagem geoelétrica reduz um subsolo complexo, com estrutura tridimensional e variável, no espaço e no tempo (devido à sazonalidade), a um modelo muito bem-comportado, com camadas horizontais paralelas, e com transições bem definidas (e não com gradientes de resistividade, conforme ocorre na natureza).
A resistividade do solo não é medida, o que são medidas são resistências aparentes na superfície do solo. As resistividades em profundidade são então inferidas, matematicamente, por meio de um processo chamado de inversão. Este tipo de processamento tem a característica de apresentar múltiplas soluções para o mesmo problema, o que significa que uma curva de resistividades aparente pode ser expressa por diferentes estruturas de subsuperfície.
A inversão somente teria solução biunívoca, se a curva de campo pudesse ser obtida com absoluta acurácia. Ocorre que as medições

estão sujeitas a ruídos, interferências e desvios, que afetam os valores de resistência aparente medidos, comprometendo a qualidade da resistividade média obtida para o volume de subsuperfície prospectado. Para a dedução da tradicional expressão que converte as resistências aparentes em resistividades aparentes (ρ = 2 x π x a x R), há que se considerar duas premissas: solo uniforme, que não existe na natureza, e a inexistência de potenciais em subsuperfície, que existem naturalmente, além dos que são produzidos no processo de medição, quando correntes são injetadas no solo. Como estas duas premissas nunca podem ser atendidas, o uso da expressão simplificada, automaticamente, introduz desvios nos valores medidos.
As chamadas “medições de resistividades do solo” deveriam produzir uma curva média bem suave (“smooth”), Isso porque, as sondagens geoelétricas medem volumes de subsolo aditivos, em que cada medição soma ao volume anteriormente medido mais um novo volume, ainda maior, em uma progressão geométrica. Porém, o que se normalmente obtém, são curvas que apresentam distorções, saltos para cima ou para baixo, calombos ou vales etc. Estas “não-suavidades” expressam todo o conjunto de incertezas acima mencionado, e não existiriam se fosse possível realizar uma medição “perfeita”.
O uso de uma amostragem de curvas de resistividades aparentes com valor estatístico (o que significa um conjunto com pelo menos 20 curvas), ajuda a reduzir os erros e desvios, pois estes têm distribuição estatística gaussiana no espaço log, de modo que a média geométrica reduz drasticamente os desvios na curva média.
Face ao conjunto de incertezas que cercam a atividade de modelagem geoelétrica, aplico alguns critérios que considero indispensáveis. Como por exemplo: gosto de trabalhar com uma boa amostragem de linhas de medição e faço uma filtragem dos dados, eliminando os valores que eu considero “outliers”, que não fazem parte do universo amostral; somente utilizo números redondos (tanto de resistividades como de espessuras das camadas), sem casas decimais (exceto nas duas primeiras camadas, onde admito uma casa decimal);
Em solos de alta resistividade (> 1000 Ωm), eu ajusto a curva a partir dos pontos de menor espaçamento (AB até 16 m), pois as duas últimas medições (com MN = 32 m e 64 m) apenas mostram uma tendência de inflexão da curva, uma vez que, usualmente, apresentam desvios para cima, já que o sinal que chega nas hastes de tensão é muito fraco, afetado por ruídos e, eventualmente, abaixo da sensibilidade do equipamento de medição. Também aplico a “Navalha de Ockham”, suavizando a curva de resistividades aparentes, ou seja, ignorando calombos e vales, e simplificando, sempre que possível, o modelo (simplificar significa reduzir o número de camadas, mas dificilmente a menos de 3).




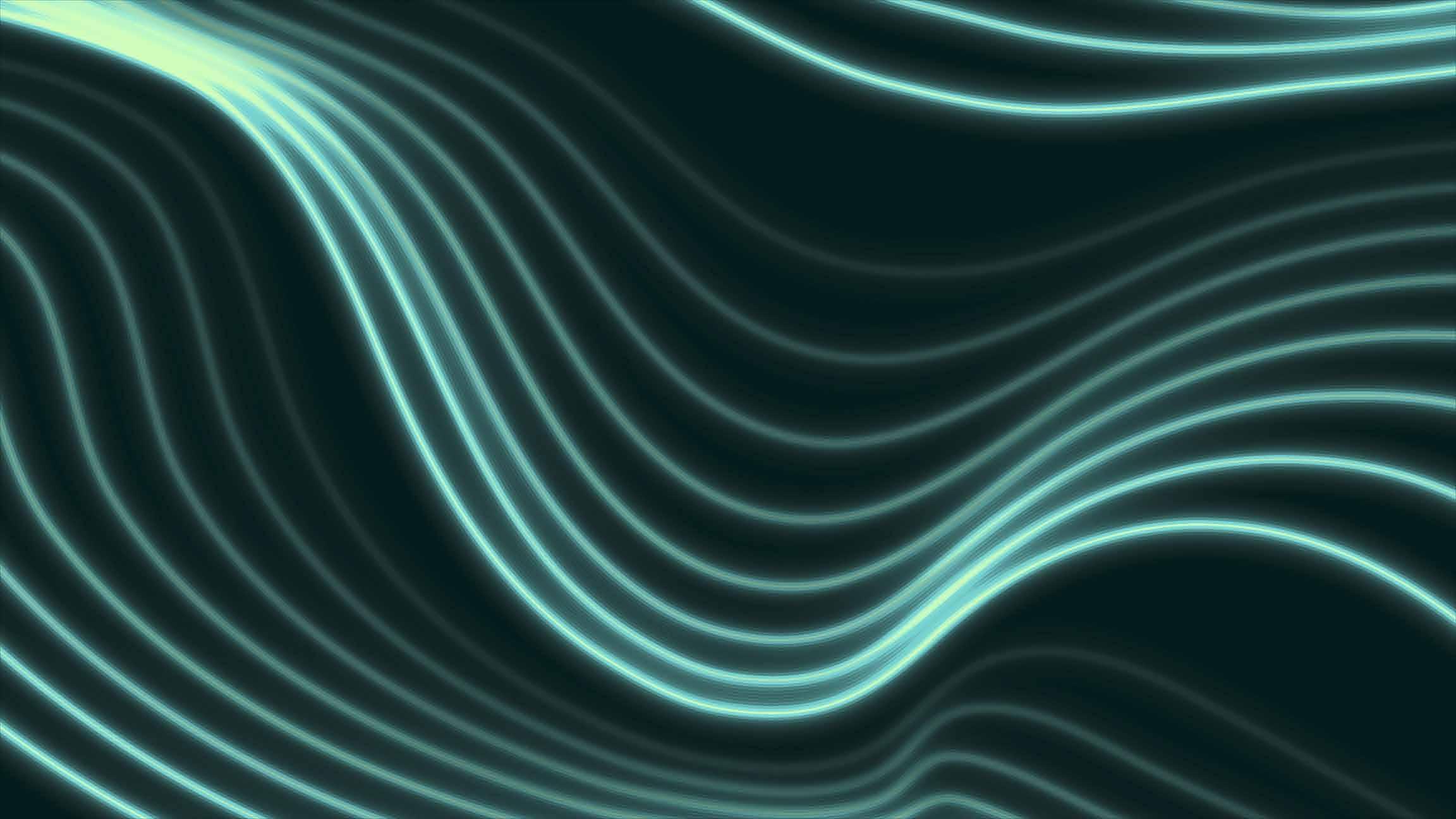



Evento técnico reunirá mais de 3 mil especialistas para tratar de inovação, segurança e desafios do setor elétrico
Considerado o maior evento técnico do setor elétrico da América Latina, o Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica (SNPTEE) chega à sua 28ª edição entre os dias 19 e 22 de outubro, no Recife Expo Center. A escolha de Recife como sede do evento reforça a relevância do Nordeste brasileiro na geração de energia.
Com o aumento da complexidade da matriz elétrica, o avanço das tecnologias digitais e os impactos das mudanças climáticas, o SNPTEE 2025 se consolida como um seminário essencial para conectar especialistas, empresas, instituições de pesquisa e tomadores de decisão que atuam em toda a cadeia de produção e transmissão de energia elétrica no Brasil.
Promovido pelo CIGRE-Brasil e coordenado pela Eletrobras, o evento reafirma seu compromisso com a excelência técnica, com destaque para a qualidade dos relatórios e estudos que serão apresentados. Ao todo, serão 98 temas estratégicos, organizados em 16 grupos de estudo e 4 painéis especiais.
Além das apresentações técnicas, o SNPTEE 2025 contará com uma feira de negócios, reunindo cerca de 100 expositores e fomentando o networking e parcerias estratégicas entre os principais players do setor.
As inscrições podem ser feitas pelo site oficial do evento e garantem acesso às sessões técnicas e à ExpoSNPTEE, além do material completo e participação na sessão solene e no coquetel de Abertura. Os sócios do CIGRE-Brasil têm condições especiais de inscrição.

O setor elétrico está passando por transformações profundas, e o SNPTEE é o ambiente ideal para debater essas mudanças e propor caminhos que promovam confiabilidade, segurança e eficiência no sistema elétrico brasileiro.


Solução completa em dispositivos de proteção, comando e medição elétrica
Referência mundial em automação industrial, a Mitsubishi Electric fornece também produtos e soluções para proteção elétrica de instalações, que podem ser aplicados em diversos segmentos, de grandes indústrias e edifícios a painéis e residências, inclusive no canteiro de obras.
Nossa família de produtos de baixa tensão é composta por disjuntores, contatores, relés de sobrecarga e multimedidores. São mais de cinco mil itens fabricados no Japão, de fácil instalação e manutenção, além de alta qualidade, con abilidade e custo-benefício. São disjuntores até 6.300A e partidas de motores até 800A que seguem as principais normas internacionais de segurança, atendendo inúmeros clientes ao redor do mundo.
No Brasil, contamos com uma vasta rede de distribuidores e integradores de sistemas devidamente treinados e prontos para atendê-lo tanto em novas instalações como em retro ts. Acesse os nossos canais de comunicação e conheça mais.
Conheça a Mitsubishi Electric nos seguintes canais:
Escaneie para mais informações:









As celebrações do aniversário da Associação começam no Prêmio Abradee, em 20 de agosto, com a tradicional cerimônia que reúne autoridades e lideranças do setor elétrico nacional
A 27ª edição do Prêmio Abradee, realizado pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), será especial: marca o início da comemoração dos 50 anos da associação. A entidade é uma das principais do setor elétrico e representa 42 distribuidoras, que levam energia a 99,6% da população brasileira.
“A melhor forma de comemorar esse relevante momento da nossa história é reconhecer a excelência do trabalho das distribuidoras de energia. É motivo de orgulho saber que, ao longo de cinco décadas, construímos um segmento forte, resiliente e atento às necessidades, transformações e inovações do setor, do Brasil e dos brasileiros”, diz o presidente da Abradee, Marcos Madureira. As vencedoras da edição de 2025 serão divulgadas no dia 20 de agosto, na tradicional cerimônia em Brasília.
Para alcançar a credibilidade de vinte e sete edições do Prêmio Abradee, a associação estabeleceu parcerias sólidas, selecionando criteriosamente as instituições que contribuem para o sucesso da premiação. Fazem parte desse projeto, por exemplo, a Fundação Nacional da Qualidade (FNQ), que contribui na categoria Qualidade da Gestão; a Innovare Pesquisa, na frente de Avaliação pelo Cliente; o Instituto Ethos, no quesito ASG; e a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), no âmbito da Gestão Econômico-Financeira e Operacional.
“O Prêmio tem o propósito de ser o indutor dinâmico e permanente do aperfeiçoamento das empresas associadas da Abradee, contribuindo para a melhoria do desempenho do segmento de distribuição e das condições de vida da população”, analisa o presidente da entidade, Marcos Madureira, olhando para o histórico do evento e a melhoria no serviço. As distribuidoras devem investir mais de R$ 145 bilhões, até 2028, em expansão, manutenção e modernização da rede elétrica.

A última edição contou com uma menção honrosa às empresas mais bem avaliadas nos critérios de Saúde e Segurança, além de uma homenagem aos eletricistas, que estão na linha de frente atuando para entregar o melhor serviço à população.
A cerimônia também contou com a apresentação da “Sinfonia da Distribuição de Energia”, do artista multimídia Jarbas Agnelli, que construiu uma partitura a partir de fotografias de pássaros em fios elétricos. Uma orquestra executou a composição ao vivo durante o prêmio, em uma experiência audiovisual que emocionou os presentes.


GERENCIAMENTO DE RISCOS DA NR-1

Prevista para o fim do segundo semestre, atualização também exige cálculo da energia incidente para arco elétrico e aprimora critérios de capacitação técnica
Após 5 anos de discussão a revisão da Norma Regulamentadora 10, a NR-10 - que estabelece diretrizes para segurança em instalações e serviços em eletricidade - pode ser oficializada no final do segundo semestre de 2025 - essa é a expectativa do mercado e de especialistas do segmento elétrico. Entre as principais novidades, o texto em elaboração traz o alinhamento da NR-10 com o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) previsto na NR-1.
Construída a partir de uma força tarefa, coordenada pela comissão do Grupo de Trabalho Tripartite (GTT), envolvendo empresas, bancada de trabalhadores e Governo Federal, a nova redação estabelece uma interface robusta com o gerenciamento global de riscos ocupacionais, definindo critérios claros que reforçam a hierarquia das medidas de controle - priorizando ações coletivas, organizacionais e de engenharia, antes das individuais. Esse alinhamento também se conecta diretamente com normas internacionais, como a ISO 45001, consolidando o papel preventivo da gestão integrada.
Para Aguinaldo Bizzo, especialista em segurança do trabalho e assistente técnico da bancada dos trabalhadores no Grupo de Trabalho Tripartite (GTT) da NR-10, esse alinhamento com a NR-1 é fundamental para a segurança dos trabalhadores.
"No que diz respeito ao PGR, o objetivo da revisão da NR-10 é justamente criar essa interface com a NR-1, estabelecendo a necessidade de um gerenciamento efetivo de riscos. As medidas de controle agora ficam claramente alinhadas à NR-1, respeitando a hierarquia que prioriza ações coletivas, organizacionais e só depois individuais. Isso consolida critérios fundamentais previstos inclusive em normas internacionais, como a ISO 45001”, explica.
Bizzo ressalta ainda que, por ser uma norma especial, a NR-10 tem autoridade sobre a NR-1 (norma geral) nos aspectos específicos

da segurança em instalações e serviços elétricos, garantindo que seus requisitos técnicos e organizacionais prevaleçam sempre que houver sobreposição de temas.
De forma geral, o especialista em segurança do trabalho destaca que a atualização da norma é essencial diante das transformações do setor elétrico. “Tivemos evoluções tecnológicas, novas formas de geração de energia (como eólica e solar), alterações profundas nos processos de trabalho e na organização das empresas, além de uma ampliação expressiva da terceirização. Por isso, existe uma necessidade de atualização da norma, para que continue alinhada às mudanças do mercado e às práticas internacionais”, afirma Bizzo.
A relevância dessa atualização fica ainda mais evidente diante dos dados da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel), que mostram que em 2024 foram registrados 2.373 acidentes elétricos, um aumento de 11,6% em relação a 2023. Desses, 759 resultaram em mortes — alta de 12,6% no período.
Segundo a entidade, os incidentes envolvendo choque elétrico subiram de 986 para 1.077. Além disso, os incêndios originados por sobrecarga e curto-circuito aumentaram de 963 em 2023 para 1.186 em 2024, um acréscimo de 23,16%.
Para Luiz Carlos Lumbreras Rocha, auditor fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a NR-10, assim como as demais Normas Regulamentadoras, não deve ser vista de forma limitada, mas sim como um ponto de partida para a segurança dos trabalhadores.
“Muitas vezes essas questões são deixadas de lado ou não é dada a importância que deveria. Vários estudos demonstram que a SST (segurança e saúde ocupacional) não representa um ônus, um custo para a organização, mas sim um investimento. A cada dólar investido em SST, pode-se recuperar de 1 a 3 dólares. O custo nacional com
os acidentes e doenças no trabalho representa em torno de 4% do PIB do país. Ou seja, estamos falando em produtividade, redução de perdas e retorno financeiro, além de um direito fundamental (do trabalhador)”, explica.
Outro ponto crucial da revisão, é a inclusão obrigatória do cálculo da energia incidente para o risco de arco elétrico, que passa a ser exigido já na fase de projeto. A proposta representa uma evolução significativa em relação ao texto atual, que se limita a prescrever o uso de EPIs, mas sem detalhar o dimensionamento das instalações para reduzir a exposição dos trabalhadores. A partir da revisão, será imprescindível adotar medidas de engenharia e controle técnico que, efetivamente, mitiguem os riscos do arco elétrico, colocando o Brasil em sintonia com práticas internacionais.
“Essa é uma vulnerabilidade na norma vigente. Ela não traz de forma explícita o que diz respeito à avaliação do risco de exposição ao arco elétrico. Por isso, é fundamental que a revisão atualize especificamente esse item, implementando e redefinindo as distâncias de segurança estabelecidas. As zonas de risco e zona controlada previstas hoje não se aplicam ao arco elétrico. Então essa é uma atualização necessária, fundamental”, detalha Aguinaldo Bizzo.
Além disso, a revisão ainda traz avanços importantes ao tratar de forma explícita os trabalhos em proximidade, como é o caso das atividades em redes compartilhadas de telefonia e TV a cabo, que passam a ter requisitos objetivos de segurança elétrica. Segundo Bizzo, essa consequência “fecha lacunas que hoje geram interpretações divergentes e insegurança jurídica”.
Essa diretriz da NR-10 se mostra como uma tendência com a Resolução Interna da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) nº 428, de 28 de abril de 2025. Essa medida estabelece novos critérios para comprovação da adoção de regras de prevenção de acidentes e da regularidade trabalhista, fiscal e técnica por parte das autorizadas de serviços de telecomunicações de interesse coletivo. A norma entra em vigor no dia 27 de outubro de 2025.
CAPACITAÇÃO DO SETOR ELÉTRICO
Outro ponto importante que a futura NR-10 abordará é sobre a capacitação de profissionais do setor elétrico. De acordo com Bizzo, a atualização da norma vai preencher uma lacuna deixada por treinamentos, que hoje, têm baixo conteúdo técnico, garantindo formações mais robustas e alinhadas à realidade do trabalho. Inclusive, segundo o especialista, este foi um dos principais objetivos da bancada dos trabalhadores na Comissão - viabilizar que cursos
a distância tenham uma parcela presencial, a fim de alcançar maior conhecimento técnico por parte dos profissionais.
“Hoje, vemos muitos cursos básicos e complementares de NR-10 que têm foco apenas financeiro, oferecendo conteúdo superficial. Não somos contra o ensino a distância, mas do jeito que está, virou só um meio para preencher requisito de papel, sem formar eletricistas de verdade. Nossa proposta é que haja ao menos uma parte presencial, diferente do que ocorre na NR-1, para ampliar o aprendizado prático e técnico”, detalha Aguinaldo Bizzo.
Também estão previstas mudanças nos cursos de reciclagem que acontecem a cada dois anos. A ideia da bancada dos trabalhadores é que esses treinamentos sejam realizados de forma laboral, ou seja, especificamente como é a atuação da empresa, diferentemente do que acontece hoje, onde os cursos são genéricos. “A ideia é que a reciclagem seja feita de forma laboral, totalmente alinhada à realidade da empresa e dos riscos específicos que o trabalhador enfrenta. Queremos que a nova norma estabeleça conteúdos e cargas horárias adaptados a cada contexto, garantindo uma capacitação mais efetiva e segura”, explica Bizzo.
Lidando diariamente com questões relacionadas à segurança e saúde do trabalhador em vínculo com a NR-10, agentes do setor apontam os impactos que a norma trará para o mercado, para além do cumprimento legal. Em síntese, o novo texto deverá organizar rotinas, orientar investimentos, definir processos técnicos e sustentar uma cultura voltada para a preservação da vida e a continuidade segura das operações.
Na FS Bioenergia, em Mato Grosso, a NR-10 foi incorporada como estratégia central de gestão, traduzindo-se em processos de bloqueio, etiquetagem e manutenções rigorosamente planejadas, além de treinamentos avançados, como o uso de simuladores virtuais para práticas de desenergização. João Paulo, gerente de saúde, segurança do trabalho e meio ambiente da empresa, que é responsável pela maior planta de etanol de milho do Brasil, explica como a empresa vem se preparando para atuar em conformidade com a NR 10.
“A adequação completa à NR-10 é um reflexo direto da nossa cultura, que valoriza as pessoas, respeita os riscos e planeja a segurança desde o início. Na prática, isso significa realizar estudos de seletividade, utilizar CCMs resistentes a arco elétrico, painéis compartimentados, dispositivos de operação remota e proteção ultra rápida, além de EPIs adequados ao nível de energia incidente. Também investimos em sinalizações, barreiras físicas e processos
rigorosos de bloqueio e etiquetagem. Tudo isso garante que nossos colaboradores atuem em um ambiente controlado, seguro e preparado para os desafios do setor”.
Já na ISA Energia Brasil, os requisitos da norma estão consolidados em um manual unificado que estabelece critérios para todas as etapas da operação e manutenção de linhas, subestações e sistemas de automação, reforçando a análise de riscos e o controle de acessos.
“Na ISA Energia Brasil, os requisitos da NR-10 são aplicados com total rigor e fazem parte do nosso compromisso diário com a segurança. Temos procedimentos padronizados, análises detalhadas de risco, bloqueio e sinalização (LOTO), capacitações constantes e inspeções de segurança frequentes. Além disso, contamos com um Manual Unificado de Operação e Manutenção Segura, que orienta todas as fases - do planejamento à execução - para garantir que intervenções em linhas, subestações e sistemas de automação, proteção e controle sejam feitas com o mais alto nível de confiabilidade e proteção aos profissionais”, afirma Eduardo Navarro, gerente de saúde e segurança do trabalho da ISA Energia Brasil.
Considerada um marco para a geração hídrica mundial, a segurança do trabalho na Itaipu Binacional é um dos principais valores da empresa. Por isso, os preceitos e determinações da NR-10 permeiam todas as etapas operacionais, desde o projeto das instalações até a gestão integrada de riscos, garantindo a segurança dos trabalhadores e a conformidade com as normas regulatórias.
“Como nosso negócio envolve a geração de energia, a NR-10 está incorporada de forma transversal em diversos processos, desde o planejamento até a execução das atividades que envolvem instalações elétricas. Temos procedimentos rigorosos para bloqueio e etiquetagem (LOTO), planos de manutenção, autorizações de trabalho e treinamentos constantes. Trabalhamos continuamente na antecipação, identificação e avaliação de riscos, propondo medidas de controle em conformidade com a norma, garantindo a rastreabilidade e o atendimento legal”, defende o gerente de segurança do trabalho na Itaipu Binacional, Patrick Andrey.
Pertencente a dois países (Brasil e Paraguai), a adequação de normas da hidrelétrica, segundo Patrick Andrey, requer alguns desafios adicionais. “Como a Itaipu é uma empresa pertencente ao Brasil e ao Paraguai, é necessário alinhar continuamente as ações que impactam os dois países - e a implantação da NR-10 certamente é uma delas. Felizmente, o teor técnico e a relevância da norma facilitaram as negociações com o nosso sócio paraguaio. A prática da diplomacia técnica é algo constante por aqui”.
HISTÓRICO DA NR-10
A Norma Regulamentadora NR-10 foi editada originalmente pela Portaria MTb nº 3.214, de 8 de junho de 1978, sob o título “Instalações e Serviços de Eletricidade”. O objetivo era regulamentar os artigos 179 a 181 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), atualizados pela Lei nº 6.514/1977, que reformou o capítulo sobre segurança e medicina do trabalho.
Caracterizada como Norma Especial pela Portaria SIT nº 787, de 28 de novembro de 2018, a redação original da NR-10 estabelecia as condições exigíveis para garantir a segurança do pessoal envolvido com o trabalho em instalações elétricas, em seu projeto, execução, reforma, ampliação, operação e manutenção, bem como segurança de usuários e terceiros. Desde a sua publicação, a NR-10 passou por quatro processos revisionais, sendo duas amplas revisões e duas alterações pontuais.
Agora, com o texto-base consolidado e discussões avançadas do Grupo de Trabalho Tripartite (GTT), a expectativa é de que a nova revisão da NR-10 seja oficialmente finalizada até o fim deste ano.
















Telefone
0800 014 9112
(92) 2125-8000
(51) 3374-3899 (11) 99116-3585
EMBRASTEC ENERGIA DAS COISAS
ÉNERGIE ENG. ELÉTRICA
ENGEREY PAINÉIS ELÉT.
ENGND PROJETOS ELÉT.
ENPREL ENGENHARIA EXATRON
FINDER BRASIL
(81) 3090-7213 (27) 2104-0500 (51) 98211-2080 (11) 3396-8000 (11) 3266-7654 (31) 3689-9500 (11) 5844-2010 (24) 3336-4024 (12) 3642-9006 (11) 97543-0772 (48) 2102-7703 (44) 3027-9868 (43) 3520-5000 (41) 3383-9290 (16) 3103-2021 (11) 99112-3360 (67) 99225-6716 (41) 3022-3050 (17) 99136-3364 (11) 3729-7099 (51) 3357-5000 (11) 4223-1550
Site new.abb.com/br www.baeletrica.com.br www.bcmautomacao.com.br www.borba.emp.br www.bottomup.com.br site.sereng.com.br www.cappuaengenharia.com.br www.cetsp.com.br www.chintglobal.com.br www.clamper.com.br www.connectwell.com.br www.criatprojetos.com.br www.dbtec.com.br www.electrisa.com.br www.electrographics.com.br www.eletropainel.com.br www.eletrotrafo.com.br www.elos.com.br www.embrastec.com.br www.energiadascoisas.com.brwww.engerey.com.br www.engnd.com.br www.enprel.com.br www.exatron.com.br www.findernet.com
Cidade
SÃO PAULO MANAUS
PORTO ALEGRE
SANTO ANDRÉ RECIFE VITÓRIA
CANOAS
SÃO PAULO
SÃO PAULO
LAGOA SANTA
TABOÃO DA SERRA
VOLTA REDONDA
PINDAMONHANGABA
SÃO PAULO
CRICIUMA MARINGÁ
CORNELIO PROCOPIO
CURITIBA
RIBEIRÃO PRETO SÃO PAULO
TRÊS LAGOAS
CURITIBA
IBIRÁ
SÃO PAULO
CANOAS
SÃO CAETANO DO SUL
Residencial
Montadores de painéis
Distribuidores/Atacadistas
Revendas/Varejistas
Venda direta ao cliente final
Telemarketing
Possui certificado ISO 14001 (ambiental)
Possui serviço de atendiemnto ao cliente por telefone e/ou internet
Possui programas na área de responsabilidade social
Exporta produtos acabados
Importa produtos acabados
Tem corpo técnico especializado para oferecer suporte ao cliente
Oferece treinamento técnico para os clientes
Nesta edição, trazemos um levantamento completo dos principais fornecedores de dispositivos elétricos de proteção, manobra e comando para média e alta tensão. Esse segmento, fundamental para a cadeia elétrica e industrial, garante a segurança, o controle e a continuidade do fornecimento de energia em sistemas residenciais, comerciais e, sobretudo, industriais.

Tipo cartucho
Tipo NEOZED X
Tipo gG / aM / aR
Miniatura
Térmico X
Resetável (PTC)
Especiais
De proteção contra Surtos (DPS) X
De falta à terra X X
Tipo NH X
Fotoelétrico (controle de iluminação) Acessórios para fusíveis X
De subtensão X
De sobrecorrente
De falta de fase X
De sequência de fases X
Térmico (sobrecarga de motores)
Temporizador
De nível (boias/reservatórios)
Diferenciais Residuais (DR) X X
De monitoramento de tensão ou corrente
Automática
Manual
Comutadora
Reversora
Seccionadora
Seccionadora fusível
Fusível
Interruptor para iluminação
Variador de luminosidade
Minuteria
Sensor de presença
X X
Auto transformador X X X X X X X X X Soft starter
X X X X X X X X Chave de partida de motor X X X X X X X X X Inversor de freqüência X X X
Temporizador Acessórios para disjuntores
Botoeira X
Chave fim de curso Contato X
X X
Relé de Impulso X
X X X X
Sensores em geral X X X X
Sinalizadores em geral X X X
Disjuntores
Chave-fusível
Acessórios para fusíveis
Programador horário X X X
X X X X X X X X X Pára-raios
Para proteção de transformador X X X
Para proteção de linha X X X X X X X X X De proteção básica (50, 51, 51N, 50N) X X
X X Com funções digitais convencionais integradas
X X X X X X Digitais inteligentes (IEDs) X X X X
Para proteção de motor X
FOCKINK IND. ELÉTRICAS
GRUPO CONDUMAX INCESA
GRUPOGIMI
HEILIND ELECTRONICS
HEXATECH ENGENHARIA
HVEX
INTELLI STORM
KIENZLE
KRAUS & NAIMER
KRON MEDIDORES
LOGMASTER TECNOLOGIA
LOJA ELÉTRICA
LUGO COMERCIAL ELÉTRICA
MARGIRIUS
MASALUPRI ENG. ELÉTRICA
MASZTER ENG. E CONSULT.
MCT ENGENHARIA E OBRAS
MTM
MULTIPLA TECNOLOGIA
OLIVEIRA ALMEIDA ENG.
ONIX DISTR. DE PROD.
P OLIVEIRA ENG. ELÉTRICA
PEXTRON
PHOENIX CONTACT
PSO ENGENHARIA ELÉTRICA
QUALITEC BRASIL
RODRIGO GRAZIADEI
ROMAGNOLE
SCHNEIDER ELECTRIC SIEMENS
SOPRANO
SRA EQUIP. E SISTEMAS
STRAHL
THS COMANDOS ELÉTRICOS
WEG
ZILOCCHI ELETRÔNICA
Telefone
(55) 3375-9500
0800 701 3701 (11) 4752-9900 (11) 3017-8797 (21) 4062-7131 (35) 3622-2699 (16) 3826-1411 (11) 2538-4507 (11) 2198-1288 (11) 5525-2000 (51) 2104-9005 (31) 3218-8000 (11) 4486-8400 (19) 3589-5000 (21) 97530-6222 (12) 99718-3236 (19) 98305-5539 (11) 97152-2867 (71) 3379-6268 (34) 99919-7007 (44) 3233-8500 (21) 96446-6643 (11) 5094-3200 (11) 3871-6400 (31) 3616-0987(51) 2104-9005 (44) 3233-80000800 011 9484 (54) 9338-4748 (31) 99600-3425 (11) 5026-2000 (15) 99802-4788 (47) 3276-4000 (35) 3623-4828
Site
www.fockink.ind.br www.condumax.com.br www.grupogimi.com.br www.heilind.com.br www.hexatech.com.br www.hvex.com.br/ www.intellistorm.com.br www.kienzle.com.br www.krausnaimer.com.br www.kron.com.br www.logmaster.com.br www.lojaeletrica.com.br www.lugo.com.br www.margirius.com.br www.masalupri.com.br www.masztereng.com.br www.mcteng.com.br www.mtm.ind.br www.multiplatecnologia.ind.brwww.onixcd.com.br www.poliveiraengeletrica.com www.pextron.com.br www.phoenixcontact.com.br www.psoengenharia.com.br www.qualitecbrasil.com.br www.logmaster.com.br www.romagnole.com.br www.se.com/br www.siemens.com.br www.soprano.com.br www.sratech.com.br www.strahl.com www.thscomponentes.com.br www.weg.net www.zilocchi.com.br
Cidade
PANAMBI
OLÍMPIA
SUZANO
SÃO PAULO
RIO DE JANEIRO
ITAJUBÁ ORLANDIA
SÃO PAULO COTIA
SÃO PAULO CACHOEIRINHA
BELO HORIZONTE MAIRIPORÃ
PORTO FERREIRA
RIO DE JANEIRO
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
CAMPINAS
SÃO BERNARDO DO CAMPO
LAURO DE FREITAS
ARAGUARI
MANDAGUARI
RIO DE JANEIRO
SÃO PAULO
SÃO PAULO
IPATINGA
SÃO PAULO
CACHOEIRINHA
MANDAGUARI
SÃO PAULO
SÃO PAULO
CAXIAS DO SUL
CONTAGEM
SÃO PAULO
SOROCABA JARAGUÁ DO SUL
ITAJUBÁ
Fabricante
Residencial
Montadores de painéis
Distribuidores/Atacadistas
Venda direta ao
Telemarketing
9001 (qualidade)
Possui certificado
Possui certificado ISO 14001 (ambiental)
Possui serviço de atendiemnto ao cliente por telefone e/ou internet
Possui programas na área de responsabilidade social
Exporta produtos acabados
Importa produtos acabados
Tem corpo técnico
Oferece treinamento técnico para os clientes
DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO DE BAIXA TENSÃO
DISPOSITIVOS DE COMANDO, CONTROLE, SECCIONAMENTO, ACIONAMENTO E SINALIZAÇÃO DE BAIXA TENSÃO
DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO
Tipo cartucho
Tipo NEOZED X Tipo gG / aM / aR
Miniatura
Térmico
Resetável (PTC)
Especiais
Tipo D X X Térmico (sobrecarga de motores)
Fotoelétrico (controle de iluminação) Acessórios para fusíveis
De alta sensibilidade (30 mA)
De média sensibilidade (300 ou 500 mA)
De falta à terra
De subtensão
De sobrecorrente
De falta de fase
De sequência de fases
Temporizador
De nível (boias/reservatórios)
De monitoramento de tensão ou corrente
Automática
Comutadora
Reversora
Seccionadora
Seccionadora fusível
Fusível
Interruptor para iluminação
Dimmer
Minuteria
Sensor de presença
Soft starter
Chave de partida de motor
Inversor de freqüência
Auto transformador
Temporizador
Botoeira
Chave fim de curso Contato
Relé de Impulso
Sensores em geral
Sinalizadores em geral
Disjuntores
Programador horário X
Chave-fusível X
Acessórios para disjuntores X
Acessórios para fusíveis X X X X
Pára-raios
X X X X X X X X De proteção básica (50, 51, 51N, 50N) X X X X
X X Com funções digitais convencionais integradas
Digitais inteligentes (IEDs) X
Para proteção de transformador X X X X
Para proteção de motor X X
Para proteção de linha X X X X
Aline Cristiane Pan é Doutora em Energia Solar Fotovoltaica e Professora na UFRGS, onde coordena o Grupo de Pesquisa em Transição Energética. Co-fundadora da Rede Brasileira de Mulheres na Energia Solar, tem mais de 25 anos de experiência no setor.
Osetor energético brasileiro tem sido historicamente marcado pela desigualdade de gênero, refletida na baixa representatividade de mulheres em cargos de liderança e na sub-representação de grupos racializados e outras identidades marginalizadas. Nos últimos anos, no entanto, emergiu uma força articuladora significativa: as redes de mulheres. Essas redes não apenas promovem apoio mútuo e visibilidade, mas também criam estratégias coletivas para enfrentar barreiras estruturais e culturais.
Foi nesse contexto que, em setembro de 2024, foi lançado o Pacto Nacional pela Equidade de Gênero na Energia, uma coalizão firmada entre 18 organizações, redes, coletivos e comitês institucionais que compartilham o compromisso de promover a equidade, diversidade e inclusão das mulheres no setor energético. Entre seus objetivos centrais estão o incentivo à liderança feminina, a valorização da interseccionalidade como princípio transversal, e a construção de políticas e práticas mais inclusivas para o setor.
O PERFIL DAS MULHERES PARTICIPANTES DO PACTO: UM
RETRATO PARCIAL DA DIVERSIDADE
Como parte das ações previstas no Pacto, foi lançada uma pesquisa nacional para mapear o perfil das mulheres que atuam no setor de energia. O levantamento, ainda em andamento, já conta com cerca de mil respostas e revela importantes pistas sobre quem são as mulheres que compõem essas redes e como elas se posicionam no setor.
Entre os dados iniciais, destaca-se que 58% das respondentes ocupam ou já ocuparam cargos de liderança, e 24% estão nessas funções há mais de dez anos. Esses números são expressivos e indicam que as redes exercem um papel fundamental no fortalecimento de trajetórias profissionais, especialmente em espaços historicamente masculinizados como o setor energético.
No entanto, é preciso observar que esse recorte, ainda que relevante, reflete majoritariamente o perfil de mulheres que já estão conectadas a redes de apoio. Isso significa que o levantamento não representa, em sua totalidade, a diversidade das mulheres do setor. A predominância de mulheres brancas (74% na amostra geral e 78% entre as líderes), somada à baixa representatividade de mulheres negras e de pessoas com deficiência, aponta para uma ausência significativa de interseccionalidade na composição das redes e na estrutura do setor como um todo.

Por exemplo, apenas 3% das mulheres líderes se autodeclaram pretas ou amarelas, e 0,5% se declaram como pessoas com deficiência — sendo estas exclusivamente mulheres brancas. Além disso, somente 1% das respondentes se identifica como mulher trans, o que evidencia uma inclusão ainda muito limitada de identidades de gênero não cisnormativas.
Esses dados sugerem que, embora haja avanços na organização e na participação das mulheres, os espaços de liderança e influência ainda não são plenamente acessíveis às mulheres negras, indígenas, trans, com deficiência e de outras interseccionalidades. Isso reforça a necessidade de fortalecer o compromisso do Pacto com ações afirmativas e de ampliar o alcance das redes para mulheres que permanecem à margem desses espaços de poder.
PRÓXIMOS PASSOS: DA ESCUTA À AÇÃO
A pesquisa continua aberta e pode ser acessada por meio do link https://forms.office.com/r/FtEbCTUm3b. Todas as mulheres que atuam no setor energético — em suas múltiplas áreas, experiências e identidades — são convidadas a participar. O objetivo é construir um panorama mais amplo e inclusivo, que permita desenvolver ações de impacto real.
Os dados reunidos serão a base para a construção de estratégias coletivas voltadas à inclusão e ao fortalecimento das mulheres no setor. Em especial, o Pacto pretende apresentar esses resultados como contribuição qualificada durante a COP 30, a ser realizada em Belém do Pará. Como preparação para esse momento, será realizado em agosto de 2025, no Ministério de Minas e Energia, um evento especial pré-COP, voltado à apresentação pública dos dados e ao debate com representantes do governo, do setor privado, da sociedade civil e das próprias redes de mulheres.
O Pacto Nacional pela Equidade de Gênero na Energia representa um marco na organização coletiva das mulheres do setor energético. Os dados iniciais da pesquisa revelam tanto o potencial transformador dessas redes quanto os desafios ainda presentes, sobretudo no que diz respeito à inclusão interseccional. A construção de um setor energético mais justo, diverso e democrático passa, necessariamente, por ouvir e incluir todas as vozes — especialmente aquelas que historicamente foram silenciadas.

Luciano Rosito é engenheiro eletricista, especialista em iluminação e iluminação pública. Professor de cursos de iluminação pública no Brasil e exterior.
Atransição da iluminação pública tradicional para sistemas mais inteligentes e controlados passa necessariamente pela implementação da dimerização – o controle dinâmico dos níveis de iluminação, conforme as condições e horários de uso. Essa funcionalidade, viabilizada por tecnologias como a de telegestão, representa novas possibilidades na iluminação das cidades, com impactos diretos em eficiência energética, redução da poluição luminosa e sustentabilidade.
O Despacho ANEEL 3423/2023, em conjunto com as Portarias Inmetro nº 221 e 601/2023, avança na regulamentação da medição em sistemas de iluminação pública com telegestão. Ainda assim, temos como desafio a validação desta medição junto às distribuidoras de energia, à interoperabilidade entre sistemas e à capacitação técnica das equipes envolvidas, tanto de prefeituras, quanto das distribuidoras de energia.
Neste contexto, a telegestão surge como ferramenta estratégica, não apenas para acionar luminárias ou medir consumo (de forma precisa conforme a Portaria 221 do INMETRO), mas para adaptar os níveis necessários para uma boa iluminação (em tempo real ou por programação), conforme movimento de pedestres, condições meteorológicas ou eventos urbanos. Entretanto, a implementação da dimerização enfrenta desafios normativos, técnicos e culturais.
A nova NBR 5101:2024, publicada em março de 2024, atualizou, de maneira substancial, os requisitos para iluminação viária, ampliando seu escopo para áreas públicas e privadas, reconhecendo
classificações dinâmicas de vias e incorporando conceitos como iluminação adaptativa e critérios de desempenho baseados em densidade de potência, densidade de energia, bem como o controle da poluição luminosa. Desta forma, os critérios para a dimerização estão estabelecidos nesta norma e devem ser utilizados de acordo com os projetos, analisando cuidadosamente cada via a ser controlada e as condições para que se faça a dimerização, respeitando todos os itens estabelecidos na norma, garantindo a segurança de quem trafega pelas vias públicas.
Este artigo foi elaborado em um momento decisivo para o setor: a proposta de criação de um Grupo de Trabalho conjunto entre ABRADEE e ABCIP para o tema. Proposto durante o SENDI 2025, realizado em Belo Horizonte, em junho passado, o GT tem como objetivo discutir a integração entre os sistemas de telegestão disponíveis no mercado (que atendem às regras do INMETRO) e os sistemas de controle de iluminação pública das distribuidoras de energia elétrica.
Este movimento representa uma oportunidade histórica para alinhar inovação tecnológica, regulação e gestão eficiente, melhoria da relação entre distribuidora de energia e municípios, atualizando os cadastros de forma ágil e automatizada com o uso de APIs. A ANEEL também tem papel fundamental neste processo, no sentido de regular estas questões técnicas e operacionais, validando as decisões deste grupo de trabalho. Desta forma, estaremos consolidando a aplicação da telegestão e da dimerização (iluminação adaptativa) como pilar estruturante para as cidades do futuro.


Frederico Boschin é Diretor Executivo da Noale Energia e Sócio da Ferrari Boschin Advogados. Conselheiro da ABGD; Conselheiro Fiscal do Sindienergia RS e Professor dos Cursos de MBA da PUC/RS e PUC/MG.
Atransmissão de energia é um dos pilares invisíveis — mas absolutamente essencial — da transição energética. Nesta coluna, já abordamos inúmeras vezes os desafios operacionais da distribuição e geração de energia e os gargalos da integração das fontes renováveis intermitentes.
Imagine o setor elétrico como um time de futebol, onde cada uma das fontes (solar, eólica, hídrica, biomassa e térmica), espalhadas por diferentes partes do campo, com diferentes funções (atributos energéticos) precisam se organizar e interagir ativamente. Seria o esquema tático, alguns mais conservadores (hidrotérmicos), outros mais arrojados (renováveis). Sem uma rede de transmissão robusta e muito bem coordenada, esse jogo não se desenvolve e a energia não chega aos espectadores certos — ou melhor, às casas, indústrias e cidades que precisam dela.
Em um cenário de transição energética, a transmissão é crucial, justamente porque muitas usinas solares e eólicas estão localizadas em áreas remotas, longe dos grandes centros consumidores. A transmissão permite, portanto, a integração adequada destas fontes e levar essa energia limpa até onde ela é necessária.
Para além disso, uma rede bem planejada e estruturada ajuda a equilibrar oferta e demanda (compatibilizando critérios de segurança e estabilidade do sistema), evitando apagões e desperdícios (o chamado curtailment1). Isso é ainda mais importante com fontes intermitentes como o sol2 e o vento.
Sem capacidade de transmissão, muitos projetos de energia renovável ficaram engavetados. É o atual problema maior do nosso SIN.
No Brasil, esse tema é especialmente relevante: cerca de 90% do território já está interligado ao Sistema Interligado Nacional (SIN), uma das maiores redes de transmissão do mundo. Isso coloca o país em posição estratégica para liderar uma transição energética justa, segura e inclusiva.
O curtailment tem sua disposição regulatória dada pela REN ANEEL 1.030/20223 , que estabeleceu três condições para restrição da geração:
• Indisponibilidade externa, como gargalos originados pela Rede Básica e Demais Instalações de Transmissão (DITs);
• Atendimento a requisitos de confiabilidade elétrica, como a preservação da rede de transmissão; e
• Razão energética, no cenário de descasamento entre a oferta e demanda de energia elétrica.
Em 2025, o problema do curtailment no Brasil continuou a crescer, refletindo o descompasso entre a expansão acelerada das fontes renováveis e a infraestrutura elétrica disponível para integrálas ao sistema. Segundo a ePowerBay4, mais de 129 GWh de energia solar foram desperdiçados apenas em janeiro de 2025, concentrados em subestações como Janaúba 3 (77,5 GWh), Jaíba (31,9 GWh) e Sol do Sertão (20 GWh) — todas em Minas Gerais. Como solução para este problema, países investem em planejamento e novas tecnologias, visando essencialmente a eficiência e a redução de perdas. Linhas modernas e bem planejadas reduzem perdas de energia no caminho, tornando o sistema mais eficiente e sustentável.
Falando em novas tecnologias, dois exemplos emblemáticos de infraestrutura de transmissão de altíssima tensão estão moldando a transição energética global. Na China, redes com tecnologia UHV (Ultra-High Voltage) são agora amplamente executadas dentro de um contexto de um “super grid” nacional, com destaque para a linha Changji–Guquan5, que detém o recorde mundial: transmite 12 GW de energia em corrente contínua (UHVDC) a 1.100 kV, por uma distância de 3.293 km. Essas linhas conectam regiões remotas, ricas em energia renovável (como o noroeste), aos grandes centros urbanos no leste do país. A rede chinesa já conta com 31 linhas UHV em operação, combinando tecnologias de corrente alternada (UHVAC) e contínua (UHVDC), permitindo uma integração massiva de fontes renováveis e redução significativa de perdas na transmissão.
Na Alemanha, o Projeto SuedLink6 é um dos maiores projetos de transmissão subterrânea em corrente contínua da Europa. Com 580 km de extensão e capacidade de 2 GW, ele conecta o norte da Alemanha (onde há grande geração eólica) ao sul industrializado, onde há maior demanda. Utiliza tecnologia HVDC ±525 kV com cabos de cobre de alta capacidade e isolamento em XLPE, garantindo eficiência e confiabilidade. Além de reduzir perdas, o SuedLink é essencial para integrar mais energia renovável à rede alemã e cumprir metas climáticas.
Assim, fica um pouco mais claro entender que a infraestrutura de transmissão desempenha um papel crucial na jornada global de descarbonização e atingimento de metas de energias limpas; seja pelo aumento de investimentos, seja pelo maior planejamento no processo de integração de fontes renováveis.
1 https://www.pv-magazine-brasil.com/2025/04/02/prejuizo-por-curtailment-para-as-geradoras-de-energia-chega-r-18-bilhao/
2 Constrained-off de Centrais Geradoras Fotovoltaicas Relatório de Análise de Impacto Regulatório nº 002/2022-SRG/ANEEL Documento juntado à Nota Técnica nº 081/2022-SRG/ANEEL Processo nº 48500.006080/2022-16. Disponível em: https://www2.aneel.gov.br/cedoc/air2022002srg.pdf
3 https://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren20221030.pdf
4 https://www.epowerbay.com/
5 https://www.hitachienergy.com/news-and-events/customer-stories/changji-guquan-uhvdc-link
6 https://www.jacobs.com/projects/Germany-SuedLink

Gestão de ativos de suprimentos e aquisições: conectando estratégia, valor e sustentabilidade
Lílian Ferreira Queiroz é engenheira eletricista, Membro do Cigré, ABGEA e ABDIB, especialista em operação, manutenção, confiabilidade e gestão de ativos. Atualmente, é Diretora de Gestão de Ativos da Transmissão da Eletrobras
No setor elétrico, a área de suprimentos e aquisições têm papel crucial e determinante para o sucesso do processo de ciclo de vida dos ativos. Tradicionalmente vista como uma área de apoio, essa função passa a ser reconhecida como participativa na construção do valor dos ativos, especialmente quando inserida numa abordagem de gestão que considera não apenas o bem adquirido, mas os impactos econômicos, operacionais, sociais e ambientais associados à sua aquisição e desempenho ao longo do tempo.
A gestão de ativos, conforme definida na norma ISO 55000, é a “atividade coordenada de uma organização para realizar valor a partir dos ativos”. Isso significa que cada decisão de compra, contratação ou fornecimento é, na prática, uma decisão estratégica com impactos diretos sobre o custo total de propriedade, o desempenho operacional e o nível de risco da companhia. Quando a área de suprimentos atua alinhada à gestão de ativos, a empresa deixa de apenas adquirir bens e serviços e passa a investir conscientemente em valor de longo prazo.
A adoção da gestão de ativos representa uma verdadeira transformação cultural. Não se trata apenas de implementar ferramentas ou processos, mas de mudar percepções, comportamentos e a forma como decisões são tomadas em todos os níveis da organização. Nesse processo, liderança e governança são essenciais para garantir que as áreas de suporte, como suprimentos, estejam conectadas com os objetivos de longo prazo da companhia e as decisões tomadas com foco no cliente: operações.
Isso exige que as equipes envolvidas em contratações e aquisições passem a compreender e aplicar conceitos como ciclo de vida dos ativos, riscos associados à cadeia de suprimentos, custo total de propriedade (TCO) e critérios de sustentabilidade técnica, econômica e ambiental.
Assim, o processo de aquisição deixa de ser apenas uma negociação de preço e prazo, e passa a incorporar critérios técnicos e estratégicos, como confiabilidade, vida útil, manutenção preditiva e disponibilidade futura.
Ao integrar suprimentos à lógica da gestão de ativos, a organização fortalece a sua capacidade de gerar valor em cada etapa do ciclo de vida dos ativos — desde a especificação técnica até o descarte ou substituição. Isso implica:
• Escolher fornecedores com histórico comprovado de desempenho;
• Adotar critérios técnicos e de risco no processo de compras;
• Planejar aquisições com base na criticidade dos ativos;
• Estabelecer contratos com cláusulas orientadas à performance e confiabilidade;
• Acompanhar e medir os resultados pós-compra, fechando o ciclo da gestão de ativos.
A integração entre engenharia, operação, manutenção, inovação financeira e suprimentos é uma das alavancas mais potentes para transformar a aquisição de materiais e serviços em uma atividade estratégica. Essa sinergia contribui diretamente para a resiliência operacional, a redução de falhas e otimização de investimentos.
O maior desafio para a adoção plena da gestão de ativos em suprimentos está na mudança de cultura e mentalidade. A área precisa se posicionar como agente de transformação, preparada para atuar com visão sistêmica, capacidade analítica, gestão de riscos e sensibilidade às necessidades operacionais.
Desta forma, os ganhos são significativos: eficiência na alocação de recursos; melhoria contínua no desempenho dos ativos; fortalecimento da governança; e maior transparência nos processos decisórios. Isso contribui, não apenas para os resultados financeiros da empresa, mas também para a construção de uma infraestrutura mais segura, sustentável e preparada para o futuro.
No setor elétrico, onde os ativos são intensivos, complexos e estratégicos, a gestão de ativos deve ser tratada como um vetor de inovação e sustentabilidade. Sua implementação na área de suprimentos e aquisições é essencial para garantir que cada decisão de compra esteja alinhada com o propósito organizacional, a longevidade dos ativos e a entrega de valor à sociedade. Ao assumir esse papel, suprimentos deixa de ser apenas uma área operacional e passa a ser um ator chave na governança corporativa e na construção de um setor elétrico mais eficiente, seguro e resiliente.

Cláudio Mardegan é CEO da EngePower Engenharia, Membro Sênior do IEEE, Membro do Cigrè | claudio.mardegan@engepower.com
Em sistemas aterrados por resistência, quando ocorre uma falta à terra em uma fase, a tensão sobe nas outras duas fases. Neste caso, as proteções normalmente gastam alguns milissegundos para remover a falta. Se o para-raios não é/está dimensionado adequadamente, pode-se ultrapassar o valor de Uc/MCOV do mesmo, iniciando-se a condução. Nessa condição, os para-raios suportam essa energia apenas por um determinado tempo, conhecido como tempo de TOV (temporary overvoltage), que em geral é de baixa frequência. Assim, conhecer, saber, entender, verificar e especificar corretamente a TOV, é extremamente importante para manter a integridade dos para-raios. Eis então a motivação para escrever a coluna deste mês para vocês.
A resposta de um para-raios nas frequências próximas à frequência nominal do sistema normalmente não é discutida com frequência na literatura técnica. Com o advento dos para-raios a óxido metálico (MOV), fez-se necessária definição do TOV para o para-raios, pois quando esses equipamentos eram construídos com pastilhas de carboneto de silício, eles já eram projetados para entrar em condução apenas para tensões acima de 1.5xVFT do sistema.
As definições das normas IEC e IEEE são as mesmas e definem a TOV como sendo uma sobretensão oscilatória de longa duração amortecida ou pouco amortecida, associada a um chaveamento (por exemplo durante rejeições de cargas), condições faltas (por exemplo curtos-circuitos fase-terra) e não linearidades (tais como ferroressonância, harmônicos, etc). Em algumas situações a frequência da TOV poderá ser inferior à frequência nominal do sistema.
Esta definição surgiu com a introdução dos para-raios a óxido metálico (MOV – Metal Oxide Varistor) em substituição aos de carboneto de silício (SiC).

As magnitudes das sobretensões podem ser visualizadas na Figura 1.

1 – Sobretensões típicas em sistemas de potência
CAUSAS DAS TOVS
O que é que pode causar uma sobretensão temporária ou transitória? Listam-se a seguir as principais causas destas sobretensões:
a) Ressonâncias / Ferroressonâncias.
b) Aumento de tensão em linhas longas (Efeito Ferranti).
c) Sobretensões Harmônicas (p.ex. chaveando transformadores).
d) Contatos acidentais com condutores de tensões mais elevadas.
e) Retroalimentação de transformadores com enrolamentos interconectados (estações duais com secundário comum durante a eliminação de faltas ou transformadores trifásicos chaveados monofasicamente com carga desbalanceada no secundário).
f) Perda do aterramento de neutro do sistema
g) Falta fase-terra em sistemas não eficazmente aterrados
A sobretensão transitória de um sistema é calculada com base no fator de sobretensão (FS), que por sua vez depende da relação Xo/ X1. A equação abaixo indica como calcular:

O fabricante do para-raios (PR) pode dar a curva de suportabilidade à TOV em função da tensão Uc ou Ur do PR. Assim, para saber quanto tempo o PR irá suportar a TOV deve-se dividir o valor calculado por Uc ou Ur e entrar com este valor na curva.
A norma IEC 60099-5 [46] apresenta curvas de TOV (Transient Overvoltage) típicas. Normalmente, o valor da TOV nos testes é definido para um tempo de 10 s. Para tempos diferentes aplicam-se as curvas como as mostradas abaixo.
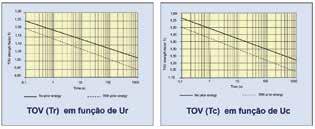

3 – TOV padronizada conforme a norma americana IEEE Std C62.22/C62.11


Roberval Bulgarelli é engenheiro eletricista e consultor sobre equipamentos e instalações em atmosferas explosivas.
Os cabos a serem utilizados em instalações de instrumentação, automação, telecomunicações e elétricas em áreas classificadas contendo a presença de atmosferas explosivas de gases inflamáveis ou poeiras combustíveis devem atender aos requisitos de especificação técnica indicados na Norma Técnica Brasileira adotada ABNT NBR IEC 60079-14 (Atmosferas explosivasParte 14: Projeto, seleção, montagem e inspeções iniciais de instalações elétricas). Dentre os requisitos apresentados está o ensaio de BAIXA PRESSÃO para verificação se os cabos de força e controle possuem ou não a características de “RESPIRAÇÃO RESTRITA”, para cabos circulares e com isolamento compacto para instalação em áreas classificadas.
A Figura a seguir apresenta o conjunto de equipamentos necessários para a execução deste tipo de ensaio em cabos.
LEGENDA:
1. Invólucro selado para o ensaio, com volume de 5.000 cm3 (± 200 cm3)
2. Instrumento para medição de baixa pressão, com precisão mínima de ± 0,01 kPa
3. Mangueiras de ar
4. Válvula de bloqueio
5. Bomba ou fole manual, ou dispositivo similar, para pressurização
6. Amostra do cabo sob ensaio, com comprimento de 0,5 m ± 10 mm

7. Ponto de entrada do cabo a ser ensaiado no invólucro selado, com pressão mínima de ar aplicada na superfície e extremidade interna do cabo
PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO, REGISTRO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DE ENSAIO DE PRESSÃO DE CABOS PARA INSTALAÇÃO EM ATMOSFERAS EXPLOSIVAS:
a - Uma amostra representativa do cabo deve ser selecionada e ensaiada;
b - Um ensaio deve ser executado em uma amostra do cabo com comprimento de 0,5 m ± 10 mm, por meio da instalação do cabo em um invólucro rígido com volume de of 5 000 cm³ (± 200 cm³)
c - O invólucro deve ser completamente selado de forma a evitar a perda de pressão interna através de folgas no invólucro;
d - Cada extremidade da amostra do cabo deve ser preparada de

forma que não esteja deformada ou esmagada a ponto que afete os resultados dos ensaios;
e - Os cabos são considerados como tendo passado no ensaio se o intervalo de tempo requerido para uma sobrepressão interna de pelo menos 0,3 kPa / 0,3 atm cair para uma valor de 0,15 kPa / 0,15 atm em um tempo não inferior a 5 s
No Fluxograma a seguir é indicado o processo de seleção de prensa-cabo Ex “d”, dependendo dos requisitos do invólucro Ex “d”, do grupo do equipamento “Ex” e do tipo de cabo utilizado (com base no resultado do ensaio de baixa pressão).
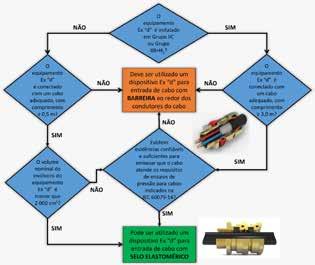
Conclusões sobre cabos para áreas classificadas e seleção de prensacabos “Ex”: Faz parte do escopo das atividades das EMPRESAS DE PROJETO “Ex”, a especificação do tipo de cabo a ser utilização em áreas classificadas, de forma a selecionar adequadamente o tipo de prensa-cabo Ex “d” a ser utilizado. Faz parte do escopo das EMPRESAS DE MONTAGEM “Ex” e das EMPRESAS DE INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS “Ex” a verificação se os prensa-cabos “Ex” (do tipo compressão ou barreira) estão adequados ou não com o tipo de cabo que está sendo instalado (com respiração restrita ou não, dependendo do resultado do ensaio de baixa pressão).
A existência do RELATÓRIO DE ENSAIO emitido com base na Norma IEC 60079-14, para o tipo, modelo e fabricante do cabo avaliado, é requerido para que os prensa-cabos Ex “d” sejam adequadamente selecionados, de acordo com o tipo de cabo utilizado.

Por: Eng José Starosta – Diretor da Ação Engenharia e Instalações Ltda jose.starosta@acaoengenharia.com.br
Diferentemente de situações convencionais, com interpretação distinta entre fontes e cargas, as instalações elétricas atuais possuem fontes associadas às cargas, como a geração distribuída ou mesmo cargas regenerativas, que também injetam potência ativa na rede, em processo muito similar ao que ocorre nos veículos elétricos, que quando freados, recuperam parte dessa energia para carregar as baterias. A situação, apesar de não ser nova, se tornou comum, em vista dos fatores relacionados à eficiência de processos e transição energética. As normas IEC 62035-23 e IEC 60375 definem essas premissas. Elas tratam do ângulo da tensão, variando em função da corrente de referência, no sentido horário.
O “bom e velho” triângulo de potência, que considerava somente as potências ativas consumidas pela carga, se torna obsoleto, tendo em vista a injeção de potência ativa pela carga, como acima descrito, e da potência reativa por cargas capacitivas, isso é, injetam potência reativa da carga para a rede, como é o caso de lâmpadas de LED, fontes de equipamentos TI e capacitores sem controle adequado, que tornam o sistema capacitivo.
A injeção da potência ativa na rede (da carga para a fonte) passa a ter um tratamento matemático de potência ativa negativa. Do mesmo modo, a potência reativa positiva, é aquela que é consumida. Já a carga da fonte, é aquela que é injetada por cargas capacitivas ou por
capacitores e são matematicamente definidas como potências reativas negativas.
O modelo polar conhecido, onde os “vetores” de tensão e corrente são definidos, devem ser avaliados nos quatro quadrantes conforme a Figura 1.
• Potências ativas (kW) e potências reativas (kvar), resultantes de injeção por elementos associados à carga em direção à fonte convencional, são definidos como negativos P<0 e Q<0.
• Por outro lado, P(kW) e Q (kvar), resultantes do consumo das cargas com suprimento pela fonte convencional, são definidos como positivos.
A conceituação exposta é disponibilizada nas medições das variáveis elétricas de forma clara nos quatro quadrantes e, principalmente, conforme o comportamento de injeção e consumo de P(kW) e Q(kvar), considerando a condição de intermitência dessas situações. Fenômenos como a geração distribuída com valores maiores que a potência consumida pela carga ou regeneração de potência por carga regenerativa, são assim classificados. Seguem medições com registros de comportamento de carga regenerativa de elevadores em prédio comercial.

Figura 1- Definições das potências ativas e reativas nos 4 quadrantes

Aguinaldo Bizzo de Almeida é engenheiro eletricista e atua na área de Segurança do trabalho. É membro do GTT – NR10 e inspetor de conformidades e ensaios elétricos ABNT – NBR 5410 e NBR 14039, além de conselheiro do CREA-SP.
ANR10 se aplica a todas as fases de geração, transmissão, distribuição e consumo, incluindo as etapas de projeto, construção, montagem, operação e manutenção das instalações elétricas, e quaisquer serviços realizados nas suas proximidades. Dessa forma, diversas atividades realizadas em locais de serviços elétricos ou em locais onde existam instalações elétricas, seja por profissionais que executam atividades de operação e manutenção das instalações elétricas, bem como para outros profissionais que realizam atividades não relacionadas às instalações elétricas, deverão ser consideradas para a correta aplicação do disposto na Portaria 1.078/2014.
Em se tratando de atividades executadas em equipamentos ou instalações no SEP – Sistema Elétrico de Potência, basicamente, foram mantidos os critérios anteriormente descritos no Decreto nº 93412, de 14 de outubro de 1986, que regulamenta a LEI 7369/1985, que trata de periculosidade para trabalhadores do setor elétrico.
Pela Portaria 1.078/2014, o direito ao adicional de periculosidade para profissionais que atuam no SEP, encontra-se expressamente definido no Item 1, alínea d:
1. Têm direito ao adicional de periculosidade os trabalhadores:
d) das empresas que operam em instalações ou equipamentos integrantes do sistema elétrico de potência - SEP, bem como suas contratadas, em conformidade com as atividades e respectivas áreas de risco descritas no quadro I deste anexo.
Dessa forma, fica enquadrado o direito ao adicional de periculosidade aos trabalhadores de empresas que operam em instalações ou equipamentos integrantes do SEP, ainda que sejam trabalhadores terceirizados, quando no desempenho das atividades e áreas de risco mencionadas no Quadro I.
Pelo Quadro I, da Portaria 1.078/2014, o direito à periculosidade ocorre para aos trabalhadores que executam atividades no SEP em alta ou baixa tensão, em equipamentos ou instalações energizadas e desenergizadas, mas com a possibilidade de energização acidental ou por falha operacional.
Portanto, as atividades e as respectivas áreas de risco desenvolvidas no SEP, que ensejam a percepção do adicional de periculosidade, se encontram listadas em rol taxativo nos itens 4.1 e 4.2, bem como no Quadro I da Portaria 1.078/2014.
Ressalta-se que, inúmeras indústrias, possuem parte de suas instalações elétricas caracterizadas como SEP, e, dessa forma, o Laudo Técnico Ambiental deve evidenciar, com clareza, os cenários elétricos existentes caracterizados como “integrantes do SEP”, descrevendo com transparência os critérios adotados para a referida caracterização, uma vez que predominam análises subjetivas alicerçadas em critérios “de gênero”.
Cenário que causa conflito entre os profissionais que elaboram Laudos Técnicos Ambientais refere-se às atividades de telecomunicações realizadas em estruturas (postes e torres) de concessionárias de energia elétrica, onde as redes de telefonia e TV a cabo estão situadas abaixo das redes elétricas. Considerando critérios técnicos construtivos, conforme requisitos de projeto estabelecidos em Normas Técnicas da ABNT, as redes de telefonia e TV a cabo estão instaladas a menos de 70 cm do condutor inferior (fase “C”) de baixa tensão das redes de distribuição de energia elétrica, ou seja, dentro do limite estabelecido pela NR10 como ZC- Zona Controlada. Assim, atividades realizadas nesse cenário são caracterizadas como “Trabalhos em Proximidade”, conforme NR10. O mesmo se aplica para as instalações de telecomunicações em estruturas caracterizadas como integrantes do SEP – Sistema Elétrico de Potência.


Como a compartimentação interna de um painel elétrico pode interferir na segurança operacional? - Parte 1/2
Nunziante Graziano é engenheiro eletricista, mestre em redes e equipamentos, Ph.D. Em Business Administration e CEO do Grupo Gimi |nunziante@gimi.com.br
Assim como no artigo anterior em que discorremos sobre como a umidade pode afetar a durabilidade de um equipamento elétrico, hoje vamos abordar sobre como a compartimentação interna de um painel elétrico de baixa tensão pode interferir na segurança operacional, analisando de várias maneiras.
A compartimentação interna de um painel elétrico de baixa tensão, construído em conformidade com a norma NBR-IEC-61439, deve atender a diversas considerações técnicas e de segurança. Aqui estão alguns aspectos importantes:
Divisão em Compartimentos - A norma sugere que os painéis sejam divididos em compartimentos para proteger os diferentes componentes, como seções de barramentos, dispositivos de manobra e proteção. Isso ajuda a minimizar o risco de falhas e facilita a manutenção.
Compartimentos Funcionais - É recomendável que o painel tenha compartimentos distintos para alimentação - onde os dispositivos de entrada de energia estão localizados. Assim como para distribuição - para os dispositivos de manobra e proteção, além de saídas para os circuitos.
A compartimentação interna em conjuntos de manobra e comando de baixa tensão, conforme a NBR IEC 61439, refere-se à separação física entre diferentes partes do painel para garantir maior segurança e confiabilidade, conforme a figura 1:
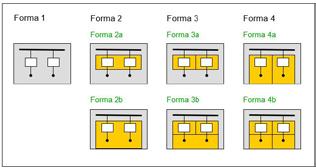
Essa separação pode ser obtida por meio de divisórias, barreiras (metálicas ou não), isolação das partes vivas ou invólucros fechados. A norma estabelece requisitos para essa compartimentação, visando proteger contra contatos com partes perigosas, penetração de corpos estranhos e, em alguns casos, contra arcos internos.
Detalhes sobre a compartimentação interna:
Objetivo: a compartimentação interna visa aumentar a segurança dos operadores e proteger as partes internas do painel contra agentes externos.
Formas de compartimentação: a norma permite diversas formas de compartimentação, como divisórias, barreiras, isolação e invólucros.
Proteção contra contatos : a compartimentação deve garantir proteção contra contatos com partes perigosas, com um grau de proteção mínimo IP XXB ou IP 2X.
Proteção contra corpos estranhos: a proteção contra a penetração de corpos estranhos deve ser de no mínimo IP 2X.
Estabilidade e durabilidade: as barreiras e divisórias devem ser projetadas para garantir estabilidade e durabilidade, podendo ser removidas apenas com o uso de ferramentas ou chaves.
Arco interno: a compartimentação interna não se destina a garantir a integridade do conjunto em caso de arco interno.
A compartimentação interna na NBR IEC 61439 é um aspecto crucial para garantir a segurança e confiabilidade dos painéis elétricos, através da separação física de suas partes para proteger contra contatos, corpos estranhos e, em alguns casos, arcos internos.
José Barbosa é engenheiro eletricista, relator do GT-3 da Comissão de Estudos CE: 03:064.010 - Proteção contra descargas atmosféricas da ABNT / Cobei responsável pela NBR5419. | www.eletrica.app.br
AA distância de segurança e a equipotencialização para descargas atmosféricas são, localmente, me di das com efeitos opostos. No entanto, a equipotencialização pode ser uma grande aliada da distância de segurança quando aplicada adequadamente.
A distância de segurança é o valor da abertura de um laço sujeito à indução de uma corrente proveniente de uma descarga atmosférica — ou seja, a espessura da camada de material isolante necessária para suportar a tensão induzida, sem que ocorra o centelhamento. Ela é calculada pela fórmula:
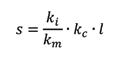
Onde k , km e k c dependem do valor de pico da corrente, do material isolante na abertura do laço e da divisão da corrente, respectivamente. Já l, nosso foco de interesse, é o comprimento do laço formado na instalação considerado para a definição de s. O valor do comprimento l tem relação direta com o valor de s. Na Figura 1, que ilustra a conexão de um sistema fotovoltaico (SFV) instalado na cobertura de uma edificação com SPDA, são apresentadas duas situações distintas: 1 e 2.
Na situação 1, a linha CC do SFV compõe o laço de indução juntamente com as conexões entre o inversor e o BEP, o eletrodo de aterramento e o condutor de descida. Esse laço é representado pela região hachurada identificada com a letra A. O comprimento l corresponde à altura dessa hachura.
Já na situação 2, o laço é significativamente menor — menos de um terço do comprimento da situação 1 —, o que também reduz l na mesma proporção. Como a distância de segurança s é diretamente proporcional a l, ela também será aproximadamente um terço menor.
Uma distância de segurança menor é sempre bem-vinda em instalações com SPDA, pois permite maior proximidade entre os sistemas, reduzindo a necessidade de medidas adicionais de separação ou isolamento.
A principal diferença entre as duas situações está na

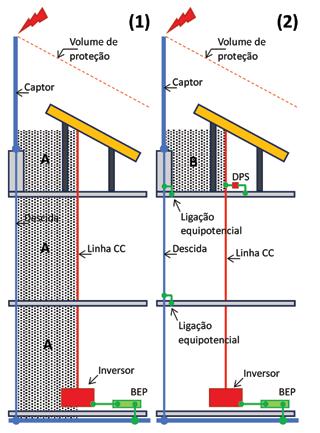
equipotencialização: na situação 2, foram realizadas ligações equipotenciais entre o SPDA (direta) e a linha CC (via DPS) com as armaduras de aço da estrutura. Essas conexões reduzem o laço de indução, restringindo-o à área hachurada B.
Com a equipotencialização, quando aplicada de forma estratégica, é uma solução eficaz para reduzir a distância de segurança na proteção contra descargas atmosféricas. Isso permite otimizar o espaço nas instalações, aumentar a segurança e minimizar a necessidade de medidas adicionais.

Por trás de cada byte, há sempre um volt: a importância da energia confiável para a IA
Daniel Bento, PMP®️, é Eng. Eletricista e atua com redes isoladas de MT desde 1989. Coordenou o Comitê de Estudos B1 do CIGRE. Foi responsável técnico pela rede de distribuição subterrânea de SP. Três vezes na lista do 100 + Influentes da Energia. Atualmente, é CEO da BAUR do Brasil e da BAUR USA Corp.
Há algum tempo, publiquei um artigo testando os conhecimentos do ChatGPT sobre manutenção de cabos isolados de média tensão. Naquele momento, o acesso democrático à inteligência artificial ainda era novidade. Mas o tempo passou, a tecnologia evoluiu (rápido), e muita coisa mudou.
Hoje, mesmo com todas as incertezas sobre como a IA vai transformar o mundo, uma coisa já é certa: ela está no centro da nova economia global. Segundo dados de um estudo recente da IEA (International Energy Agency), a capitalização de mercado das empresas ligadas à IA no S&P 500 cresceu cerca de US$ 12 trilhões desde 2022. O equivalente a mais de cinco vezes o PIB do Brasil.
E o que está por trás dessa revolução? Processamento de dados — em uma escala que exige estruturas computacionais cada vez mais potentes. E o que alimenta tudo isso? Energia elétrica!
São os data centers que garantem o poder de processamento necessário para que a IA funcione. São milhares de processadores de última geração rodando em tempo integral, 24 horas por dia, em instalações que já fazem parte da infraestrutura crítica global.
E o consumo energético acompanha esse ritmo. A IEA estima que os data centers podem ultrapassar os 945 TWh até 2030 — mais do que o consumo anual de eletricidade do Japão.
Por isso, não é por acaso que vemos uma concentração dessas estruturas em regiões com redes elétricas mais robustas, como São Paulo. Em ambientes como esses, a confiabilidade da energia elétrica não é diferencial: é pré-requisito. É aí que a conversa nos leva de volta ao setor elétrico.
Cargas críticas como as de um data center não podem correr o risco de falhas e interrupções. Um desligamento não planejado pode gerar perdas de dados, travar processos, comprometer sistemas inteiros de IA e, como consequência, levar a prejuízos financeiros e reputacionais significativos.
Garantir a confiabilidade dos cabos de média tensão, nesse contexto, vai muito além de seguir as normas. É estratégia de continuidade. E para isso, é preciso adotar ferramentas capazes de antecipar riscos e identificar falhas, antes que elas apareçam.
Ensaios de manutenção preditiva, como os de Tangente Delta e Descargas Parciais, são cada vez mais necessários em ambientes com essa criticidade. São métodos reconhecidos, com base nas diretrizes de instituições como IEEE e CIGRÉ, e que já são aplicados com sucesso em redes com cabos isolados.
Se a IA promete velocidade, automação e precisão, ela precisa, primeiramente, de uma base elétrica confiável — e isso se constrói com manutenção bem planejada, medições periódicas e decisões técnicas baseadas em dados.
Esse é um ponto pouco debatido fora dos bastidores do setor, mas que precisa ganhar espaço. Afinal, a confiabilidade da rede é o que sustenta o digital. E nós, do setor elétrico, temos um papel fundamental nesse cenário: garantir que essa nova economia continue em pé — com segurança, eficiência e resiliência.

Danilo de Souza é professor na Universidade Federal de Mato Grosso, sendo membro do Núcleo Interdisciplinar de Estudos em Planejamento Energético – NIEPE, e é Coordenador Técnico do CINASE – Circuito Nacional do Setor Elétrico. Danilo também é Pesquisador no Instituto de Energia e Ambiente da USP | www.profdanilo.com


Se o domínio do fogo foi a primeira grande virada energética da história dos Sapiens, a segunda revolução não foi menos transformadora: trata-se do domínio da fotossíntese, ou, dito de outra forma, da invenção da agricultura. Nesse momentochave da história dos Sapiens, esta espécie deixou de depender exclusivamente da coleta e da caça de alimentos silvestres e passou a produzir, armazenar e planejar sua energia alimentar. Dominar a fotossíntese significou submeter os ciclos naturais das plantas ao controle dos Sapiens, e com isso redefinir para sempre a forma como se relacionam com o tempo, o espaço e a natureza.
É importante destacar que a agricultura não surgiu como um evento isolado, mas como um conjunto de práticas que emergiram de forma independente em diferentes regiões do mundo entre 10 e 12 mil anos atrás, como na Crescente Fértil, no Sahel africano, na China, na Mesoamérica e nos Andes. Jared Diamond (2005),
em seu clássico Guns, Germs and Steel, chama esse processo de “transição de caçadores-coletores para agricultores”, e argumenta que foi ela que estabeleceu as bases para o desenvolvimento de civilizações complexas, com escrita, hierarquia e tecnologia. O que está por trás dessa transição não é apenas a produção de comida, é a reorganização completa da matriz energética que possibilita a reprodução dos Sapiens e o seu avanço na biosfera.
Nesse cenário, ao cultivar grãos e raízes, ao domesticar plantas que transformam energia solar em biomassa comestível, os Sapiens criaram um novo ecossistema artificial, o campo agrícola, do qual passaram a depender. A energia, que antes era captada por forrageamento em áreas silvestres, passou a ser concentrada em áreas delimitadas, plantadas e protegidas. Esse domínio da fotossíntese trouxe como consequência direta o aumento da densidade populacional, a fixação no território, a criação de

excedentes, e, posteriormente, a necessidade de desenvolvimento da estrutura atualmente chamada de Estado.
Como evidenciam Mazoyer e Roudart (2010), no livro intitulado História das Agriculturas no Mundo, esse processo foi, ao mesmo tempo, técnico e social. Não bastava plantar: era preciso desenvolver ferramentas, rotinas, conhecimentos empíricos sobre solo, clima e estações. Era necessário, sobretudo, criar regras de partilha, definir propriedade, inventar o imposto, instituir o calendário. O ciclo da planta tornou-se o ciclo da sociedade. A sazonalidade da energia fotossintética moldou, além do prato dos Sapiens, os seus mitos, suas religiões e suas guerras.
O solo, o arado, o grão e a colheita passaram a ser objetos de disputa. A revolução agrícola não democratizou o acesso à energia, ela criou, pelo contrário, novas desigualdades. Pimentel (2008), no livro Food, Energy and Society, alerta para o fato de que o cultivo intensivo e a monocultura alteraram drasticamente o balanço energético dos sistemas ecológicos. Cada caloria produzida passou a demandar trabalho humano, animal ou, mais tarde, combustível fóssil. A agricultura, que parecia libertar os Sapiens da escassez, passou a exigir sua servidão ao campo em um primeiro momento.
Essa mudança se reflete na própria fisiologia humana e na organização do trabalho. Populações agrícolas, como mostram os registros esqueléticos, apresentaram diminuição na estatura média, aumento de doenças ósseas e menor diversidade nutricional. A energia calórica passou a ser obtida em maior quantidade, mas com menor qualidade. O pão substituiu a carne, e o mingau, o fruto. Alimentar-se tornou-se uma rotina repetitiva, e trabalhar a terra, uma obrigação diária.
No entanto, o domínio da fotossíntese permitiu a multiplicação de pessoas por hectare, a formação de cidades, e a especialização do trabalho. Um grupo podia plantar, outro guerrear, outro rezar. A energia solar, capturada pelas folhas das plantas e acumulada em grãos e frutos, tornou-se a base invisível de todas as pirâmides sociais. A energia da fotossíntese, que até então era difusa na paisagem, foi domesticada e centralizada. A agricultura fez dos Sapiens, além de agricultores, também soldados, escravos e imperadores.
Jared Diamond (2005) argumenta que os continentes onde a agricultura surgiu de forma mais produtiva, com espécies domesticáveis ricas em proteínas e fácil armazenamento (como o trigo, a cevada, o arroz), foram os mesmos que originaram os impérios
expansionistas. A vantagem energética derivada do domínio da fotossíntese não se limitou à nutrição, ela se traduziu em capacidade de sustentar exércitos, gerar excedentes e financiar inovação. Foi, portanto, uma vantagem geopolítica.
Mazoyer e Roudart (2010), por outro lado, ressaltam o papel da agricultura como vetor da desigualdade global. Enquanto algumas regiões intensificaram suas práticas, mecanizaram e acumularam capital, outras permaneceram presas a sistemas tradicionais com baixa produtividade. O domínio da fotossíntese, nesse sentido, é também a história do desequilíbrio energético entre povos, regiões e classes sociais. A monocultura exportadora, o latifúndio, a dependência alimentar, todos são legados dessa segunda revolução energética.
Pimentel (2008), com foco no balanço ecológico, chama atenção para os custos energéticos da agricultura moderna: erosão do solo, perda de biodiversidade, uso intensivo de fertilizantes e defensivos. A fotossíntese, embora gratuita e renovável, exige contexto ecológico estável. Ao desequilibrar o ciclo natural com práticas agrícolas agressivas, os humanos colocaram em risco justamente aquilo que pretendiam dominar: a capacidade das plantas de transformar luz solar em vida.
No plano simbólico, a agricultura moldou as cosmovisões humanas. Deuses da colheita, rituais de fertilidade, festas de plantio e colheita estão presentes em praticamente todas as culturas camponesas. A semente enterrada que renasce foi, por séculos, metáfora da própria existência humana. A energia solar internalizada na planta passou a ser vista como milagre, como bênção, como dádiva, e, também, como punição, quando falhava.
Do ponto de vista energético, o domínio da fotossíntese foi a segunda grande conversão da história dos Sapiens: da energia do fogo à energia do sol transformada em amido, fibra e proteína. Diferentemente da energia química do fogo, a energia da agricultura é mais lenta, mais cíclica, mais dependente do tempo. Mas é, ao mesmo tempo, mais produtiva em termos de densidade populacional, e mais estratégica em termos de poder.
Com o domínio da fotossíntese, os Sapiens tornaram-se dominantes de processos mais complexos de conversão de energia, não apenas consumidores. Deixamos de perseguir alimentos para fazer com que eles crescessem diante de nós.
Se a primeira revolução energética, o fogo, nos deu sobretudo a ampliação do cérebro, a segunda, a agricultura, nos deu a civilização.
Caio Huais é engenheiro industrial, especialista em Engenharia Elétrica e Automação com MBA em engenharia de manutenção e gestão de negócios. Atualmente, ocupa posição de gerente corporativo de manutenção no Grupo Equatorial, respondendo pelo desempenho da Alta Tensão de 7 concessionárias do Brasil.
Durante o mês de junho, em que se celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente, o setor elétrico é convidado a refletir sobre suas práticas e impactos. Um dos pontos mais sensíveis nesse contexto é a utilização do hexafluoreto de enxofre (SF₆), um gás isolante extremamente eficaz, mas com severas consequências ambientais em caso de vazamento.
Com GWP (Global Warming Potential) aproximadamente 23.500 vezes maior que o CO₂, o SF₆ não causa diretamente a destruição da camada de ozônio, mas contribui significativamente para o aquecimento global, o qual impacta os ciclos atmosféricos que regulam a formação e recuperação do ozônio estratosférico.
O SF₆ permanece na atmosfera por mais de 3.000 anos, e embora seja quimicamente estável demais para reagir com o ozônio, seu impacto climático é inegável. A emissão é calculada em CO₂ equivalente (CO₂e) para mensurar seu efeito estufa:
CO₂ e (kg)=massa de SF₆ (kg)×23.500\text{CO₂ e (kg)} = \text{massa de SF₆ (kg)} \times 23.500CO₂ e (kg)=massa de SF₆ (kg)×23.500
Exemplo prático:
Um vazamento de 1 kg de SF₆ equivale à emissão de 23.500 kg de CO₂, o mesmo que:
• O uso contínuo de um carro popular por cerca de 100.000 km; ou
• A pegada anual de carbono de três famílias brasileiras médias.
IMPORTÂNCIA DA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS COM SF₆
Embora o SF₆ seja utilizado em disjuntores, seccionadoras e transformadores blindados, devido à sua confiabilidade elétrica, a manutenção preventiva e preditiva é essencial para evitar emissões indetectáveis a olho nu, que se acumulam com o tempo e comprometem a integridade ambiental e regulatória das subestações.
Técnicas para prevenção de vazamentos
1 - Câmeras de Detecção Óptica de Gás (OGI): equipamentos como a FLIR GF306 capturam emissões invisíveis de SF₆ usando tecnologia infravermelha filtrada, permitindo inspeções em tempo real sem desligamento da instalação.
2 - Monitoramento Contínuo de Pressão e Vazão: sensores

embarcados detectam variações de pressão em compartimentos de SF₆, com geração de alertas automáticos para perdas acima do normal.
3 - Análise Físico-Química do Gás: medições periódicas de umidade, ácido fluorídrico (HF), SO₂, e SOF₂ ajudam a identificar desgastes internos, arco elétrico ou contaminação por falha de vedação.
4 - Revisão de Vedações e Conexões: troca regular de O-rings por elastômeros de alta durabilidade (ex: EPDM ou Viton®), inspeção de flanges e reaperto com torquímetros calibrados são práticas recomendadas.
A manutenção completa dos polos do disjuntor SF6 também é crítica para assegurar confiabilidade, segurança operacional e zero emissão de SF₆. Deve envolver: inspeção interna dos contatos móveis e fixos, buscando sinais de carbonização, desgaste ou pitting; medição da resistência de contato com micro-ohmímetro (ideal < 100 μΩ); testes de tempo de operação e sincronismo entre fases; verificação da integridade mecânica das molas, eixos e pinos articulados; limpeza com solventes dielétricos e lubrificação de superfícies móveis com graxa compatível; secagem do compartimento com vácuo e reposição de SF₆ com grau de pureza conforme IEC 60376 (> 99,9%); e verificação da estanqueidade com detecção ultrassônica ou sniffer de vazamento.
A crescente regulação ambiental exige que os agentes do setor elétrico adotem não apenas boas práticas técnicas, mas também posicionamentos éticos e sustentáveis. A minimização das perdas de SF₆ não é apenas uma obrigação técnica, mas um compromisso com a sociedade e as futuras gerações.
Integrar tecnologia de monitoramento, qualificação de equipes, e manutenção com rastreabilidade é essencial para tornar as subestações modernas mais eficientes e ambientalmente responsáveis.
1. IPCC AR6 – Intergovernmental Panel on Climate Change, 2022.
2. IEC 60376 / 60480 – Specifications for SF₆ gas in electrical equipment.
3. IEEE C37.122 – SF₆ Gas Handling Guidelines.
4. Cigré Technical Brochure 802 – SF₆ Alternatives and Environmental Impact.
5. FLIR Systems – Optical Gas Imaging for SF₆ Leak Detection.



Treinamentos técnicos e encontros de negócios com conteúdo da mais alta qualidade apresentado por verdadeiros mestres em suas áreas de atuação.














