E INTERVENÇÃO PRECOCE
Fisioterapia | Fonoaudiologia | Terapia Ocupacional
VOLUME 03


Organizadores:
Régis Nepomuceno Peixoto
Stéphani de Pol
Ariane Hidalgo
Instituto Inclusão Eficiente 2025

Organização
Régis Nepomuceno Peixoto, Stéphani de Pol e Ariane Hidalgo
Revisão
Alice Wilken de Pinho
Projeto gráfico e diagramação
Débora Mathias
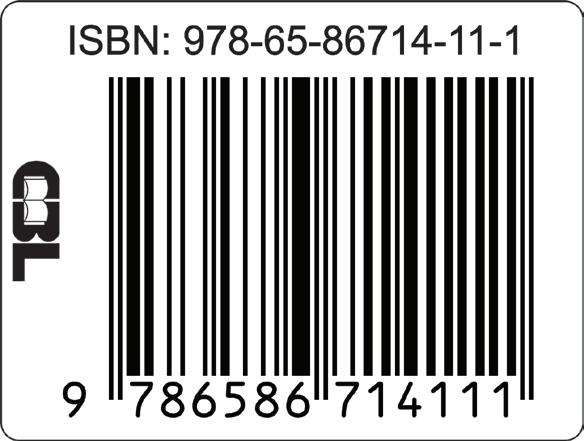
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) (Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)
a p i a o c u p a c i o n a l : v o l u m e 3 / o r g a n i z a d o r e s R é g i s N e p o m u c e n o P e i x o t o , S t é p h a n i d e P o l , A r i a n e H i d a l g o - - 1 e d - - C u r i t i b a ,
P R : I n s t i t u t o I n c l u s ã o E f i c i e n t e , 2 0 2 5 .
P D F
B i b l i o g r a f i a
I S B N 9 7 8 - 6 5 - 8 6 7 1 4 - 1 1 - 1
1 . C r i a n ç a s - D e s e n v o lv i m e n t o 2 . D e s e n v o l v i m e n t o
i n f a n t i l - A v a l i a ç ã o 3 I n t e r v e n ç ã o ( P s i c o l o g i a )
4 . F i s i o t e r a p i a 5 . F o n o a u d i o l o g i a 6 . P e d i a t r i a -
O b r a s d e d i v u l g a ç ã o 7 T e r a p i a o c u p a c i o n a l
I . P e i x o t o , R é g i s N e p o m u c e n o . I I . P o l , S t é p h a n i d e .
I I I H i d a l g o , A r i a n e
Índices para catálogo sistemático:
1 D e s e n v o l v i m e n t o i n f a n t i l : I n t e r v e n ç ã o p r e c o c e :
P e d i a t r i a 6 1 8 . 9 2 8 3
M a r i a A l i c e F e r r e i r a - B i b l i o t e c á r i a - C R B - 8 / 7 9 6 4
Reservado todos os direitos de publicação por: Inclusão Eficiente Assessoria e Consultoria em Reabilitação e Inclusão LTDA.
Rua Brigadeiro Franco, 3323 - Rebouças, Curitiba/PR, 80220-100 contato@institutoinclusaoeficiente.com.br
Apresentação
O Instituto Inclusão Eficiente nasceu do sonho de vivermos em um mundo diferente, onde todos podem ter e receber oportunidades com equidade, sem preconceito com suas diferenças. Um mundo onde a diversidade é contemplada e no qual todos podem usufruir dos seus direitos de maneira plena e igualitária.
Há quase 15 anos, nascemos como uma empresa, com a proposta de levar essa experiência de sucesso a todo o Brasil. Diariamente, prezamos pela busca de processos inovadores e de máxima qualidade nas áreas de inclusão e reabilitação de pessoas com dificuldades ou deficiências, com temáticas permeadas pelas áreas da saúde e da educação.
Nosso motivo maior é oferecer cursos com profissionais renomados, com bagagem agregadora, tanto nacionais quanto internacionais e levar o conhecimento para onde ele de fato precisa chegar: aos profissionais e familiares que são agentes diários de transformação, os quais por meio das mudanças de paradigmas e suporte adequado, poderão ampliar a participação social de todos, para que tenhamos uma sociedade mais justa.
Este livro é parte da nossa trajetória, cuja tônica maior é poder fazer parte da história de cada profissional que esteve conosco nos Cursos de Especialização Lato Sensu, em parceria com a Faculdade IPPEO. Esta edição faz parte dos cursos de Pós-graduação Lato Sensu em Desenvolvimento Infantil e Intervenção Precoce, coordenado pela Fisioterapeuta e Mestra Stéphani de Pol e pelo Terapeuta Ocupacional e Mestre Régis Nepomuceno Peixoto.
Os leitores poderão encontrar, em cada capítulo, mais do que os trabalhos de conclusão de curso de cada aluno, mas também um pouco da história de formação de cada um deles. E assim, coletivamente, caminhamos na direção da construção de uma clínica ampliada, na qual o fazer de cada um impacta a todos, na perspectiva da construção social da nossa missão inicial em que a representatividade deva ser conquistada e a participação social seja uma garantia de direitos humanos.
Esperamos que a temática, tão valorizada pela equipe da Inclusão Eficiente e pelos discentes do curso de Especialização em Desenvolvimento Infantil e Intervenção Precoce, possa lhe ser útil, trazendo boas reflexões e, sobretudo, novos aprendizados.
Por fim, ratificamos o nosso compromisso com o conhecimento científico e deixamos aqui o nosso mais profundo agradecimento a todos os colaboradores desta obra tão rica e repleta de significados, sem vocês, nada disso seria possível!
Prefácio
O desenvolvimento infantil é um processo complexo, dinâmico e profundamente influenciado pelas experiências que a criança vivencia em seus contextos cotidianos. Assim, reconhecendo a importância de um olhar sensível, multidisciplinar, técnico e integrado sobre essa trajetória, este e-book reúne uma coletânea de capítulos que discorrem por temas transversais. A partir de sua prática clínica, acadêmica e comunitária, os autores compartilham reflexões, pesquisas, estudos de caso e abordagens que enriquecem a compreensão do desenvolvimento infantil, tanto no ambiente doméstico, escolar e clínico.
Os textos aqui apresentados abordam temas fundamentais e muito discutidos na atualidade, como o impacto do uso de telas no desenvolvimento infantil, o apelo das tecnologias na infância, questões relacionadas ao brincar, dificuldades alimentares, as contribuições da educação infantil no desenvolvimento da criança.. Cada capítulo oferece uma contribuição única, pautada em evidências científicas, com o objetivo de ampliar as possibilidades de intervenção e promover um desenvolvimento mais saudável, inclusivo e significativo para as crianças, além de trazer luz a temas fundamentais trabalhados por terapeutas em suas rotinas clínicas.
Esta publicação destina-se a profissionais da saúde, educação, pesquisadores e estudantes interessados em aprofundar seus conhecimentos sobre o papel da atuação de diversos terapeutas no apoio ao desenvolvimento infantil. Mais do que uma compilação técnica, trata-se de um convite ao diálogo e à construção coletiva de práticas que respeitam a singularidade de cada criança e favorecem o seu pleno potencial.
Esperamos que esta leitura inspire ações transformadoras e fortaleça o compromisso com uma infância mais justa, inclusiva, acolhedora e rica em oportunidades de desenvolvimento - em sua forma mais ampla.
Ariane Hidalgo
Mestra - Pedagoga do Departamento Educacional Instituto Inclusão Eficiente
1.
MÉTODO CANGURU: UMA
INTERVENÇÃO HUMANIZADA AO
RECÉM-NASCIDO PRÉ-TERMO
Amandah Oliveira Ferreira da Silva
Mariana Maria Moura Montenegro
Marcela Paula Conceição de Andrade Oliveira
Stella Guerra de Amorim
INTRODUÇÃO
A prematuridade é considerada um problema na saúde pública que acarreta complicações que são consideradas a principal causa de mortalidade em recém-nascidos Pré-Termos (RNPT). Estes bebês apresentam maior risco de desenvolvimento de doenças e deficiências em seu ciclo vital (CATTANEO et al., 2018; CARVALHO et al., 2019).
Nesse contexto, o Método Canguru (MC) é recomendado por ser um modelo e uma intervenção com atenção perinatal humanizada, com boa relação custo-benefício, além de ter respaldo em evidências. Este modelo permite que os cuidados neonatais ao recém-nascido (RN) sejam executados tanto pelos genitores quanto pela família (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017; LIU et al., 2020).
Consiste em colocar o RN em posição vertical, somente de fralda em contato pele a pele, junto ao peito dos pais, tendo como tempo mínimo a estabilização do RN e como máximo que ambos acharem necessário e agradável. Esse posicionamento deve ser monitorado por uma equipe de saúde capacitada (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017; ZHANG et al., 2018).
Portanto, o presente capítulo objetiva, de forma geral, descrever o Método Canguru e suas particularidades, apresentando a sua importância na saúde e bem-estar do recém-nascido. Para compor este estudo foi realizada uma revisão bibliográfica com busca nas bases de dados LILACS e MEDLINE via PubMed, além de manuais técnicos de saúde, no período de 2016 a 2020.
Os critérios de inclusão foram baseados na seleção de estudos inicialmente pela leitura dos títulos, e após pela leitura do resumo e de toda a extensão dos textos, sendo incluídos aqueles que abordassem a temática em questão. Utilizaram-se os descritores: prematuridade, método canguru e unidade de terapia intensiva.
O SURGIMENTO DO MÉTODO CANGURU E SUA
IMPLANTAÇÃO NO BRASIL
Historicamente, o Método Canguru surgiu na década de 1970, em Bogotá, na Colômbia, devido à falta de incubadoras necessárias para o aquecimento dos RNs. Essa prática era realizada através do contato pele a pele, que tinha por finalidade promover a estabilidade térmica do RN (STELMAK, A. P.; FREIRE, M. H. S., 2017; LIU et al., 2020).
Este novo costume de cuidado, não somente reduziu os índices de mortalidade infantil, como também aumentou o vínculo entre RN e sua família, diminuiu o abandono do RN nas Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) e melhorou as taxas de aleitamento materno. Frente a essas vantagens, esta prática estendeu-se pelo mundo, e o Brasil destacou-se mundialmente por adotar o MC como Política Pública Nacional no ano 2000 (STELMAK, A. P.; FREIRE, M. H. S., 2017).
No período entre 2000 e 2010, ocorreu a solidificação da Atenção Obstétrica e Neonatal na agenda de prioridade e da humanização como referência nas políticas de saúde brasileiras. Também ocorreu a inserção e o desenvolvimento da humanização como um dos
pontos do Sistema Único de Saúde (SUS). Essas perspectivas culminaram para a atenção humanizada e para o RN e sua família. Portanto, é nesse período que o Método Canguru no Brasil ganha expansão e fortalecimento (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017).
O Ministério da Saúde em parceria com instituições acadêmicas, Centros Nacionais de Referência para o MC voltado para o aperfeiçoamento de práticas clínicas neonatais, fez-se fortalecer a perspectiva e o compromisso inicial do MC no Brasil, que é a humanização do cuidado neonatal, não desagregado da qualidade técnico-científica e das boas práticas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017).
No Brasil o propósito para criação de norteadores de cuidados neonatais, que se originou da inquietação do próprio Ministério da Saúde e de diversos profissionais, deu origem à Norma de Orientação para a Implantação do MC, publicada pelo Diário Oficial como Portaria GM n° 693, em 5 de julho de 2000, sendo revisada posteriormente como Portaria n°1.683, de 12 de julho de 2007. Nela, se encontram os mais importantes paradigmas do MC destinados aos recém-nascidos que precisam ser hospitalizados após o nascimento (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017).
ASPECTOS DA FISIOLOGIA DO RECÉM-NASCIDO PREMATURO
O nascimento prematuro, menor que 37 semanas de gestação, está em maior risco de mortalidade e morbidade, devido ao comprometimento em quase todos os aspectos de sua fisiologia. Entre
os principais aspectos das alterações dos sistemas do RNPT se destacam (BEAR; MELLOR, 2017; FALSAPERLA et al., 2020):
ASPECTOS DAS ALTERAÇÕES CARDIORRESPIRATÓRIAS:
• Transição de circulação paralela para em série;
• Fechamento funcional do forame oval em resposta ao aumento do fluxo sanguíneo pulmonar e perda da circulação placentária;
• Remoção da circulação placentária por estiramento/ separação dos vasos umbilicais e o fechamento funcional resultante do ducto venoso;
• Fechamento funcional do canal arterial dentro de 3 dias após o nascimento;
• Afinamento rápido do músculo liso vascular pulmonar nos primeiros dias após o nascimento.
ASPECTOS NEUROFISIOLÓGICOS:
• Déficits cognitivos sem grandes déficits motores;
• Alterações cognitivas, comportamentais, de atenção e socialização;
• As interrupções no tempo, frequência, padrão e natureza necessários da experiência, podem impedir a expressão das capacidades essenciais;
• Risco de desenvolvimento de encefalopatia da prematuridade.
ASPECTOS SENSORIAIS:
• Alterações no desenvolvimento e nas capacidades funcionais do aparelho sensorial;
• Maior risco de desenvolver vários déficits sensoriais, incluindo distúrbios integrativos sensoriais.
ASPECTOS GASTROINTESTINAIS:
• A desnutrição no período crítico do desenvolvimento fetal, neonatal e infantil mostrou aumentar o risco de efeitos adversos e duradouros no crescimento, neurodesenvolvimento, saúde cardiovascular e condições relacionadas ao metabolismo, incluindo hipertensão, diabetes tipo 1 e hipercolesterolemia.
ASPECTOS MUSCULOESQUELÉTICOS:
• O nascimento prematuro pode afetar o desenvolvimento do esqueleto, repercutindo na vida adulta, porque as reservas de cálcio são acumuladas durante o terceiro trimestre;
• Aparecimento de sequelas musculoesqueléticas na
primeira infância como doença metabólica óssea (DMO), desalinhamento de membros e extremidades, deformidade craniana e atraso motor grosso;
• Comprometimento motor, com interferência nas habilidades de caligrafia.
ASPECTOS RENAIS:
• Probabilidade de interrupção do desenvolvimento renal devido parto prematuro, aumentando o risco de doença renal a curto e longo prazo;
• Presença de alterações histológicas anormais nos rins.
ASPECTOS DO METABOLISMO, HOMEOSTASE E FUNÇÃO
ENDÓCRINA:
• Devido à imaturidade dos sistemas, existe a probabilidade da homeostase metabólica e da função endócrina ficarem prejudicadas;
• A hipoglicemia no período neonatal precoce é uma causa de morbidade significativa em prematuros com efeitos agudos e de longo prazo, além de ser fator de risco para diabetes mellitus tipo 2 e risco para morte por doença cardiovascular.
ASPECTOS IMUNOLÓGICOS:
• A imunidade baixa do prematuro pode deixá-lo vulnerável à infecção ou com a probabilidade de desenvolver a bacteremia.
O AMBIENTE DA UTIN E SUAS REPERCUSSÕES PARA O RN
O ambiente da UTIN deve proporcionar a confiança necessária para a sobrevivência e cuidado do RNPT e/ou Baixo Peso (BP), porém devido ao excesso de estímulos, se mostra desfavorável ao processo de maturação dos órgãos, pelo fato do cérebro ainda não se encontrar preparado para receber esses estímulos (STELMAK, A. P.; FREIRE, M. H. S., 2017; FILIPPA, et al., 2019).
No ambiente da UTIN as respostas mais comuns ao estresse infantil constituem a forma mais perigosa de estresse, que é o estresse tóxico. Esse tipo de estresse é uma resposta severa, prolongada e/ou frequente a algum evento adverso na ausência de um cuidado de suporte. Essa resposta tem a capacidade de interromper os circuitos cerebrais, metabolismo, sistema de órgãos e a fisiologia normal dos sistemas biológicos, que resulta em prejuízo à saúde por toda a vida (WEBER; HARRISON, 2019).
Os RNPT possuem maior risco de desenvolvimento de lesão cerebral e interrupção da maturação do cérebro, o que pode se manifestar como um risco para paralisia cerebral, déficits cognitivos e transtornos psiquiátricos, como transtorno do espectro do
autismo ou hiperatividade ou transtorno de déficits de atenção. Essa maturação prejudicada é uma consequência do ambiente atípico no início da vida e sua exposição a vários fatores de estresse, como a dor física e separação materna (FILIPPA, et al., 2019).
Os estresses se originam do ambiente físico da UTIN como a iluminação forte, ruídos altos e cheiros nocivos. Do ambiente psicossocial que inclui a falta de interações sociais de apoio ao desenvolvimento e as respostas duvidosas dos cuidadores às dicas do bebê (por exemplo, o choro devido à fome ou necessidade de ser abraçado) e também da UTIN clínica ambiente como os procedimentos clínicos necessários para a saúde e segurança do bebê (PINEDA, et al., 2017; WEBER; HARRISON, 2019).
Os estímulos angustiantes comuns na UTIN necessários para os cuidados clínicos do RNPT incluem ventilação mecânica, inserção de sonda nasogástrica, punção no calcanhar, inserção de cateter intravenoso, manuseio e sucção (WEBER; HARRISON, 2019).
ETAPAS DO MÉTODO CANGURU
O Método Canguru consiste em três etapas de cuidado ao RN e sua família, que engloba um agrupamento de intervenções que buscam acolher os pais, promovendo o início do vínculo deles com seus filhos, inserindo-os nos cuidados, ou seja, no processo terapêutico, estimulando ao toque precoce até a posição canguru (STELMAK, A. P.; FREIRE, M. H. S., 2017).
A primeira etapa começa no pré-natal da gestação, seguida da fase de hospitalização do RNPT e/ou BP na UTIN, ou Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Convencional (UCINCo). Nesta etapa todos os procedimentos devem seguir cuidados especiais (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017; STELMAK, A. P.; FREIRE, M. H. S., 2017).
Na segunda etapa que ocorre na Unidade de Cuidados Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa), a mãe mantém-se no hospital em regime de alojamento conjunto, com o RN na posição canguru de forma contínua, assumindo a integralidade do cuidado ainda sob supervisão e orientação de uma equipe multiprofissional, com especial atenção ao aleitamento materno e estímulo da participação do pai nos cuidados (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017; STELMAK, A. P.; FREIRE, M. H. S., 2017).
A terceira etapa corresponde à alta hospitalar dos RNPT e/ ou de BP, que terão acompanhamento compartilhado pela equipe da atenção básica do método canguru e do hospital (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017).
BENEFÍCIOS DO MÉTODO CANGURU
Revisões sistemáticas de estudos do MC relataram que a prática intermitente e contínua foi associada a uma redução significativa de sepse, de risco de mortalidade neonatal e de hipotermia e hipoglicemia, além de possuir diversos benefícios ao RN e sua família como: aumento do tempo de duração da amamentação, melhora do desenvolvimento neuro-comportamental, psicomotor
e maturação cerebral por longo prazo, ganho de peso e resposta fisiológica (YUE et al., 2020).
Num estudo quase experimental de Parsa et al. 2018, no Hospital Fatemiyeh, na cidade de Hamadan, Irã, foram selecionados cem RNs que foram admitidos na unidade de terapia intensiva neonatal, sendo divididos aleatoriamente em dois grupos (grupo experimental n=50 e grupo controle n=50). No grupo experimental os RNs ficaram na posição canguru por uma hora durante 7 dias e no grupo controle os cuidados de rotina foram realizados na incubadora.
Os instrumentos de coleta de dados foram um questionário de características maternas e infantis, checklist de sinais vitais e saturação de oxigênio. Antes da intervenção não houve diferença significativa entre os parâmetros fisiológicos (frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura e saturação de oxigênio no sangue arterial) dos grupos. Porém após a intervenção, houve diferença significativa entre os grupos quanto aos índices fisiológicos, no que chegou a conclusão que o MC aumenta os índices fisiológicos do RN.
Em outro estudo exploratório prospectivo observacional de Nunes (et al. 2017), foi analisada a influência da duração da posição canguru nas interações iniciais entre mães e bebês prematuros. Todos os RNs elegíveis nascidos no Hospital Sofia Feldman, com idade gestacional de 28-32 semanas e peso ao nascer de 1.000-1.800 g foram incluídos. Chegando a conclusão que o maior tempo de posicionamento canguru estimula as trocas iniciais de contato do prematuro com sua mãe, o que leva a alerta do mesmo
e uma melhor disponibilidade para interações com a mãe durante a amamentação.
Sharma, Murki e Oleti (2016) em um ensaio clínico randomizado que foi conduzido em um berçário de cuidado terciário do Departamento de Neonatologia, Hospital Fernandez, Hyderabad, compararam a relação custo-eficácia de Cuidados Canguru (KWC) e Cuidados Intensivos Intermediários (CII) em RNs de muito baixo peso estáveis (peso ao nascer < 1100 g). Foram incluídos 141 bebês (menor de 1100g e 32 semanas ao nascimento), sendo que 71 foram randomizados para o grupo KWC e 70 para o grupo IIC, uma vez que o bebê atingiu um peso de 1150g. O resultado do estudo mostrou que houve redução significativa das despesas hospitalares e dos pais no grupo KWC em comparação ao grupo IIC.
A PARTICIPAÇÃO DOS IRMÃOS COM O BEBÊ
PREMATURO
O MC propõe que os irmãos do RNPT venham até a unidade neonatal, para que conheçam a equipe e o local em que o irmão/ã se encontra, além de descobrir o motivo da ausência dos pais. Os pais são orientados de como irá ocorrer esses encontros e os profissionais, preferencialmente psicólogos, realizarão atividades com as crianças, no qual cada uma de forma individual decidirá a ida ou não até o leito do irmão (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017).
A visita é indicada para diminuir a ansiedade dos irmãos do bebê e para propiciar segurança quanto o seu lugar na família, além de poder ser considerada uma atividade protetora quanto
às dificuldades afetivo-comportamentais que têm potencial de surgir neste período (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017).
PERCEPÇÃO DO PAI DIANTE DA PREMATURIDADE
O nascimento prematuro do filho e sua internação na UTIN são vivenciados pelo pai de forma traumática, sendo evidenciados pelos relatos de se sentirem inseguros, assustados e com medo, além de não pretenderem ter outros filhos. O tempo limitado para a adaptação psicológica poderá ocasionar um trauma devido ao estado de saúde do filho ou à vulnerabilidade do quadro clínico, mudando a idealização que se tinha de um bebê saudável para os sentimentos desafiados (CARVALHO et al., 2019).
O impacto negativo diante da internação de um filho pode ser minimizado por um acolhimento bem sucedido, e a segurança proporcionada por esta ocasião desencadeará a postura dos pais no decorrer do período de internamento. O suporte emocional e a confiança nos cuidados prestados pela equipe de saúde facilitam o enfrentamento durante o processo de internamento (STELMAK, A. P.; FREIRE, M. H. S., 2017; CARVALHO et al., 2019).
Nesse sentido que o Método Canguru intervém de forma humanizada com o neonato, seus pais e familiares, como um cuidado primordial, com vista ao sucesso de vinculação RN/família e relação família/equipe, com recomendação de que o pai e mãe não sejam observados como visitantes do bebê, mas sim como parceiros da equipe, assumindo funções e papéis que lhes cabem nos
cuidados do RNPT (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017; STELMAK, A. P.; FREIRE, M.
H.
S., 2017).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, é possível perceber e concluir que o MC demonstra ser um método com completude diante da abrangência e riqueza de seus benefícios, capaz de trazer não só a saúde do neonato como um todo, como também a familiares e a relação deles entre si. A riqueza de benefícios demonstra ser em vários aspectos ligados à saúde deles, sendo eles: fisiológicos, emocionais, psicológicos, sensoriais e sociais. Além disso, é um método que funciona em conjunto, numa relação que envolve a equipe, o recém-nascido e familiares e/ou responsáveis, numa troca que na teoria e principalmente na prática leva consigo uma intervenção de caráter humanizado.
No entanto, também concluiu-se diante dos estudos selecionados que não foi possível encontrar nenhum malefício da prática do método. Isso impulsiona e sugestiona que o MC seja mais divulgado, explorado e se multipliquem os estudos quanto ao tema, para que os benefícios alcancem cada vez mais a população dos neonatos. Quanto ao número de artigos que relatam sobre os aspectos fisiológicos do RNPT, na revisão bibliográfica foi encontrado apenas um autor que discorreu sobre o assunto, o que se faz necessário um maior número de estudos na área, que expliquem a fisiologia do RNPT, para melhor conhecimento e enriquecimento do tema abordado.
REFERÊNCIAS
BEAR, R. J.; MELLOR, D. J. Kangaroo Mother Care 1: Alleviation of Physiological Problems in Premature Infants. The Journal of Perinatal Education. New Zealand, v. 26, n.3, p. 117-124, 2017.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas.
Atenção humanizada ao recém-nascido: Método
Canguru: manual técnico. Brasília, DF, 2017.
CARVALHO, E.; MAFRA, P. P. O. C.; S CHULTZ, L. F.; SCHUMACHER, B.; AIRES, L. C. P. Inclusão e participação nos cuidados ao filho pré-termo na unidade neonatal: percepção paterna. Revista de Enfermagem da UFSM. Santa Maria, v. 9, e31, p. 1-19, setembro, 2019.
CATTANEO, A.; AMANI, A.; CHARPAK, N.; LEONMENDOZA, S.; MOXON, S.; NIMBALKAR, S.; TAMBURLINI, G.; VILLEGAS, J.; ANNE-BERGH. Reporto on na international workshop on kangaroo mother care: lessons learned and a vision for the future. BMC Pregnancy and Childbirth. Pretoria, v. 18, p. 170, May, 2018.
FALSAPERLA, R., LOMBARDO, F.; FILOSCO, F.; ROMANO, C.; SAPORITO, M. A. N.; PUGLISI, F.; PIRO, E.; RUGGIERI, M.; PAVONE, P. Oxidative Stress in Preterm Infantis: Overview of Current Evidence and Future
Prospects. Pharmaceuticals. Italy, v. 13, n. 7, p. 145, jul, 2020.
FILIPPA, M.; POISBEAU, P.; MAIRESSE, J.; MONACI, M. G.; BAUD, O.; HÜPPI, P.; GRANDJEAN, D.; KUHN, P. Pain, Parental Involvement, and Oxytocin in the Neonatal Intensive Care Unit. Frontiers in Psychology. Italy, v. 10, p. 715, Apr, 2019.
LIU, X.; LI, Z.; CHEN, X.; CAO, B.; YUE, S.; YANG, C.; LIU, Q.; YANG, C.; ZHAO, G.; FENG, Q. Utilization pattern of kangaroo mother care after introduction in eight selected neonatal intensive care units in China. BCM Pediatrics. Pequim, v. 20, p. 260, May, 2020.
NUNES, C. R. N.; CAMPOS, L. G.; LUCENA, A. M.; PEREIRA, M. P.; COSTA, P. R.; LIMA, F. A. F.; AZEVEDO, V. M. G. O. Relationship between the use o kangaroo position on preterm babies and mother-child interaction upon discharge. Revista Paulista de Pediatria. Belo Horizonte, v. 35, n. 2, Apr-Jun, 2017.
PARSA, P.; KARIMI, S.; BASIRI, B.; ROSHANAEI, G. Theeffect of kangaroo mother care on physiological parameters of premature infants in Hamadan City, Iran. The Pan African Medical Journal. Hamadan, v. 30, p. 89, May, 2018.
PINEDA, R.; GUTH, R.; HERRING, A.; REYNOLDS, L.; OBERLE, S.; SMITH, J. Enhancing sensory experiences for
very preterm infants in the NICU: na integrative review. J Perinatol, Author manuscript. St Louis, v. 37, n.4, p. 323332, April, 2017.
SHARMA, D.; MURKI, S.; OLETI, T. P. To compare cost effectiveness of “Kangaroo Ward Care” with “Intermediate intensive care” in stable very low birth weight infants (birth weight < 1100 grams): a randomized control trial. Italian Journal of Pediatrics. Índia, v. 42, 2016.
STELMAK, A. P.; FREIRE, M. H. S. Aplicabilidade das ações preconizadas pelo método canguru. Revista de pesquisa: Cuidado é Fundamental Online. Rio de Janeiro, v. 9, n. 3, p. 795-802, jul./set., 2017.
WEBER, A; HARRISON, T. M. Reducing toxic stress in the NICU to improve infant outcomes. Nurs Outlook, Author Manuscript. USA, v. 67, n. 2, p. 169-189, mar-apr, 2019.
YUE, J.; LIU, J.; WILLIAMS, S.; ZHANG, B.; ZHAO, Y.; ZHANG, Q.; ZHANG, L.; LIU, X.; WALL, S.; WETZEL, G.; ZHAO, G.; BOUEY, J. Barriers and facilitators of kangaroo mother care adoption in five Chinese hospitals: a qualitative study. BMC Public Health. China, v. 20, p. 1234, Aug, 2020.
ZHANG, Y.; DENG, Q.; ZHU, B.; LI, Q.; WANG, F.; WANG, H.; XU, X.; JONHSTON, L. Neonatal intensive care nurses’ knowledge and beliefs regarding kangaroo care in China: a national survey. BJM Open. China, v. 8, n. 8, Aug, 2018.
2.
A INFLUÊNCIA DO USO DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS NO DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS ENTRE 0 E 1 ANO DE IDADE
Amanda Gregorutti
Sara Buzanello
Andressa Fernanda Jóia
Atualmente, a infância não tem as mesmas características de alguns anos atrás. As crianças não costumam mais brincar “na rua” com a mesma frequência de antigamente, fato este que pode estar associado à violência, principalmente nas grandes cidades. O jogar bola, andar de bicicleta, brincar de pega-pega e outras brincadeiras tradicionais estão dando espaço para novas opções lúdicas, sendo algumas delas vivenciadas através de tecnologias.
Os dispositivos eletrônicos como tablets, celulares, computadores e jogos eletrônicos têm ocupado de maneira significativa o cotidiano das crianças, muitas vezes com a justificativa de acalmá-las ou promover distração, o que consequentemente influencia aspectos do desenvolvimento cognitivo, afetivo e social de seus usuários.
Antes mesmo de serem alfabetizadas, crianças pequenas já conhecem o mundo eletrônico e aprendem a usufruir de todos os seus recursos. Muitos aprendem a escrever o nome no teclado do computador antes de praticar a escrita e a caligrafia, aprendem a escolher seus vídeos ou músicas preferidas e desenvolvem habilidades motoras específicas para exploração dos recursos tecnológicos que lhes são disponíveis. Considerando tais fatos, é importante que profissionais da saúde e educação, bem como pais e responsáveis, tenham acesso a informações referentes às consequências da exposição e uso prolongado de telas ao desenvolvimento infantil, a fim de que decisões coerentes e conscientes possam ser tomadas. Os primeiros anos de vida constituem um período essencial para o desenvolvimento humano e o ambiente possui potencial para se tornar protetivo ou um fator de risco, a depender das experiências vividas.
Nesse sentido, a questão que envolve esse capítulo trata do seguinte tema: ‘Os dispositivos eletrônicos atrapalham o desenvolvimento da fala, da comunicação e das atividades de vida diária de crianças de 0 a 01 ano de idade que fazem uso constante dos equipamentos?’, quais os benefícios e riscos que os dispositivos eletrônicos causam para o desenvolvimento da criança; quais as áreas do desenvolvimento da criança são afetadas pelo uso da tecnologia; quais as consequências da influência do uso da tecnologia na infância.
Para alcançar esses objetivos de estudo foi realizada uma revisão bibliográfica, que de acordo com Marconi e Lakatos (2012) tem a finalidade de reunir e resumir o conhecimento científico já produzido sobre o tema investigado. Além disso, se caracteriza como qualitativa pois não é traduzida em números e pretende verificar a relação da realidade com o objeto de estudo. Os descritores utilizados foram: criança, dispositivos eletrônicos, desenvolvimento infantil e linguagem oral. Salienta-se ainda que a busca de dados, além de livros, foi realizada on-line, assim, foram encontrados artigos na base de dados Google Acadêmico, Scielo e revistas acadêmicas, limitados aos últimos 5 anos.
O critério de inclusão foi considerar as pesquisas que abordassem o tema, publicadas em português; em formato de artigos, dissertações e teses entre o período de 2015 e 2020. Como critério de exclusão desconsiderou-se os trabalhos publicados anteriormente ao ano de 2015 e que não abordassem diretamente o tema. Após a leitura na íntegra dos artigos selecionados, prosseguiu-se com a análise dos mesmos. E, com o propósito de descrever e
classificar os resultados, evidenciando o conhecimento produzido sobre o tema proposto, realizou-se a análise da temática.
A INFLUÊNCIA DO USO DE DISPOSITIVOS
ELETRÔNICOS NO DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS ENTRE 0 E 01 ANO DE IDADE
O uso de dispositivos eletrônicos, como celular e tablet, por crianças menores de 01 ano de vida está cada vez mais frequente. Os pais os utilizam como forma de distração para que o bebê pare de chorar e se ocupe, possibilitando a execução de afazeres diários sem a necessidade de supervisão integral da criança.
Pesquisas realizadas pelo Comitê Gestor da Internet – CGI do Brasil, em 2015, confirmaram que a principal maneira de distração das crianças são os celulares, tablets, computadores e afins, sendo poucas as crianças que têm acesso a brincadeiras com a família, por exemplo. A pesquisa também aponta que crianças menores de 01 ano de idade têm acesso aos dispositivos eletrônicos sem controle de horário e conteúdo.
Tais dados instigam alguns questionamentos a respeito do desenvolvimento afetivo, cognitivo e social da criança, haja vista que enquanto utilizam os dispositivos eletrônicos, as crianças na maioria das vezes, deixam de interagir com terceiros e acabam sendo privadas de brincadeiras que envolvam alguma atividade física, como um jogo de bola ou uma brincadeira ao ar livre (PAIVA; COSTA, 2015).
De acordo com Duken (2017), quando um bebê é cuidado por pessoas como pais, avós e demais cuidadores, ele recebe carinho e atenção, além de recursos que o fazem descobrir o mundo à sua volta. Porém, quando esse bebê é entregue aos celulares e tablets que fazem o papel de babá eletrônica, ele não irá sentir uma relação de afeto e sim uma relação impessoal, além de proporcionar uma falsa sensação de que tudo está ao seu dispor, basta alguns toques com o dedo. O bebê se isola, diminui os laços sociais com outras pessoas, também surgem problemas como o transtorno de sono e alimentar, ansiedade, comportamento agressivo, déficit auditivo, alterações posturais e visuais, entre outros.
De acordo com Previtale (2006), o uso de dispositivos eletrônicos pode gerar isolamento e consequente dificuldade para externalizar sentimentos e desejos no mundo real, fazendo com que a criança viva em um ambiente cada vez mais privado.
É fato que vivemos atualmente a era da tecnologia e que naturalmente as crianças passaram a ter contato com seu uso de maneira precoce. Entretanto, faz-se importante pensar em que momento e, de que maneira, a exposição pode ou deve acontecer. Exemplo disso, é o momento de pandemia pelo COVID-19, quando o uso da tecnologia foi utilizado para aproximar as pessoas em tempos de isolamento social. Vale, porém, ressaltar, que apesar de minimizar os efeitos do isolamento, o uso da tecnologia não substitui as interações físicas, culturais e sociais que a vida em liberdade proporciona, em diferentes contextos e ambientes.
Em 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou novas diretrizes para orientar pais e cuidadores de crianças menores
de 05 anos quanto ao uso de aparelhos digitais, atividade física e horas de sono. Para crianças de até 01 ano de vida, recomenda-se:
Crianças menores de 1 ano não devem ser expostas a telas.
Nunca. Elas não devem passar mais de 1 hora restritas a carrinhos ou cadeirões e devem dormir de 14 a 17 horas (entre 0-3 meses) e entre 12 e 16 horas (4-11 meses), incluindo sonecas (OMS, 2019).
Logo, os aspectos negativos quanto ao uso de dispositivos eletrônicos, sem supervisão de um adulto, por crianças até 01 ano de vida, podem levar, de acordo com Setzer (2014, n/p) a:
• Obesidade devido à falta de atividades físicas;
• Problemas de atenção e hiperatividade;
• Agressividade e comportamento antissocial;
• Depressão;
• Intimidação a colegas;
• Prejuízo para a leitura;
• Isolamento e outros problemas sociais;
• Entre outros problemas causados pelo uso da internet.
Quanto ao uso de tecnologia por crianças maiores, quando bem orientado, pode proporcionar interação social e construção de linguagem, desde que a criança esteja acompanhada por um mediador (STRASBURGUER; HOGAN, 2013).
Além disso, para crianças maiores, as mídias digitais
proporcionam, experiências culturais e interações diversificadas; interatividade, hipertextualidade e conectividade, promovendo a cooperação e integração dos pares; desenvolvimento de funções cognitivas e sensoriais, melhorando a noção espacial, as habilidades motoras, o processo de tomada de decisões e a autonomia (Ferreira, 2008, n/p).
Para Christiano (2019), as novas tecnologias e o uso dos dispositivos eletrônicos por crianças, em especial nos primeiros anos de vida, podem levar ao desenvolvimento de habilidades diversas, porém no primeiro ano de vida é aconselhável que a criança não tenha contato com esses aparelhos e possam desenvolver-se através do contato físico com outras pessoas, com livros e brincadeiras.
ÁREAS DO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA QUE PODE SER AFETADA COM
O USO IRREGULAR DOS DISPOSITIVOS
ELETRÔNICOS
Como visto anteriormente, quando se trata de crianças menores de 01 ano de idade, o uso da tecnologia não é recomendado em momento algum do cotidiano. Para crianças maiores, o uso deve ser mediado por adultos. Apesar disso, para Gomes (2013, p. 155) “[...] alguns aplicativos podem ajudar no desenvolvimento das capacidades cognitivas, auxiliando no aprendizado de cores, formas, na coordenação motora e no processo de alfabetização”.
Entretanto, Fernandes et al. (2018) afirmam que para a criança desenvolver a motricidade é necessário o deslocamento,
movimentos corporais, integração sensorial e manipulações. Assistir vídeos em dispositivos eletrônicos não colabora para a movimentação do corpo e o desenvolvimento de movimentos que serão a base da futura independência motora, como por exemplo o rolar, engatinhar e escalar para manter-se em pé. Dispositivos eletrônicos podem proporcionar experiências visuais e auditivas, porém não proporcionam vivências multissensoriais, que são possíveis de serem experimentadas por meio da exploração sensório-motora do ambiente. Tais experiências serão as bases para o desenvolvimento de habilidades cognitivas e de aprendizagem, memórias emocionais, comunicação, interpretação social e comportamentos adaptativos (FERNANDES et al., 2018).
Como afirmam os autores:
Para um corpo sentir e o psiquismo poder representar o mundo que entra pelas sensações, é preciso que todas as sensações (visão, audição, olfato, paladar, vestibular, propriocepção, tato) sejam percebidas, organizadas e interpretadas. Se a Visão e a audição se sobrepõem às demais, haverá um processamento deficitário e que poderá desenvolver sérios problemas para integrar todas essas sensações, e portanto, dificuldades em se desenvolver de modo integral (FERNANDES et al., 2018, p. 3).
Para se ter exemplos do quão difícil é o desenvolvimento sensorial na presença de dispositivos eletrônicos é só olhar ao redor, a criança come sem prestar atenção no sabor, no cheiro, nas pausas da mastigação, nas características visuais dos alimentos.
Nos passeios de automóvel, as crianças em uso dos dispositivos eletrônicos, não vivenciam os barulhos, as conversas, a demora do deslocamento, assim não percebem a diferença entre a necessidade e a satisfação, e nesse momento surge a frustração e a intolerância (FERNANDES et al., 2018).
Nos primeiros meses de vida, o bebê passa um período em que tudo é experimentação, inclusive os movimentos que ele é capaz de fazer e desenvolver, sendo assim, na falta dessa experiência, o tempo, o espaço e a profundidade são afetadas e o bebê cresce com possíveis dificuldades em orientações espaciais e até mesmo para aprender matemática. Mais especificamente, o excesso do uso dos dispositivos eletrônicos nos primeiros meses de vida pode afetar a movimentação do corpo em blocos ou lateralidade, movimentos que exigem coordenação como amarrar o cadarço e insegurança ao realizar atividades diárias (FERNANDES et al., 2018).
Assim, o desenvolvimento infantil, em todas as áreas, depende de uma atenção focada e constante. Os dispositivos eletrônicos, apesar de sua praticidade e determinadas vantagens quando usado de maneira cautelosa e mediada com crianças maiores, não podem ser o entretenimento principal da criança. Quando bebê é necessário o contato com outras pessoas, ouvir constantemente a fala da mãe, do pai ou de outro cuidador, ter espaço para se movimentar e descobrir o próprio corpo, ter momentos de alegria ou de frustração, conhecer os alimentos, entre outras atitudes que faz com que a criança desenvolva diversas áreas tanto físicas, como emocionais e cognitivas.
O USO DOS DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS E O
DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM
Almeida e Bessas (2019), através de entrevista com Simone Hage, professora do Departamento de Fonoaudiologia da Faculdade de Odontologia da USP, perceberam que as crianças que chegam à clínica da faculdade buscando tratamento que se refere à linguagem são crianças que não interagem com outras pessoas e fazem uso constante dos dispositivos eletrônicos. A professora afirma que quanto mais a criança faz uso dos dispositivos, maior dificuldade terá no desenvolvimento da linguagem.
Desde recém-nascido, a criança já inicia o desenvolvimento da linguagem, através do choro, por exemplo, ela se manifesta e cabe ao adulto identificar o motivo do choro para responder à criança, assim o cérebro passa a estabelecer conexões até o surgimento da linguagem verbal. Almeida e Bessas (2019) afirmam que o uso constante dos dispositivos eletrônicos impedem esse desenvolvimento, pois não tem interação.
Sosa (2016) afirma que a linguagem oral do ser humano se desenvolve de acordo com os estímulos que recebe nos primeiros anos de vida e que as mídias eletrônicas não beneficiam esse desenvolvimento, pelo contrário, os dispositivos eletrônicos usados nos primeiros anos de vida retardam o desenvolvimento da linguagem oral. A autora relata que em um teste desenvolvido por ela em que os pais se dividiram em grupos daqueles que ofereciam livros para seus filhos e os que ofereciam celulares e tablets, concluiu-se que 35% a menos emitiram som oral quando os pais
usaram os dispositivos eletrônicos em comparação com o grupo de uso dos livros.
As crianças não se expressam com tanta intensidade quando estão com os aparelhos eletrônicos, por isso é preciso que os pais e cuidadores brinquem, leiam e conversem com a criança, assim é possível estimular potenciais que a farão desenvolver a linguagem oral de forma saudável.
A pesquisa realizada pelo Núcleo de Pesquisa e Intervenção em Famílias com Bebês e Crianças mostra que, em 52 famílias com crianças menores de 2 anos de idade, o uso do dispositivo eletrônico é constante, sendo que 79% dessas crianças têm menos de 01 ano de idade.
O Núcleo de Pesquisa e Intervenção em Famílias com Bebês e Crianças (NUFABE) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) tem realizado investigações sobre o fato, e, em uma das pesquisas mostra que os pais utilizam os dispositivos eletrônicos para acalmar a criança, para entreter em momentos mais complicados como na hora da alimentação ou para que fique atarefada com o aparelho enquanto os pais desempenham alguma ação (MALLMANN, 2019).
Tanto Mallmann (2019) quanto Pedrotti (2019) acreditam que os pais ou cuidadores são os maiores influenciadores das crianças quanto ao uso de dispositivos eletrônicos, porém esses pais desenvolvem sentimentos de angústia, culpa e até julgamentos por não saberem se estão agindo certo ou errado.
As autoras concordam que o desenvolvimento cognitivo, sócio emocional, motor e da linguagem ocorrem nos primeiros 3 anos de
vida do ser humano e para que este desenvolvimento se dê de maneira natural é preciso a interação do bebê com os pais ou cuidadores. São nos momentos de amamentação, troca de fraldas, hora de dormir, entre outros que o bebê identifica suas necessidades e passa a conhecer e sentir seu próprio corpo. Nestes momentos também ocorre a frustração, geralmente por não ser atendido na hora que deseja e isso faz com que desenvolva a autorregulação emocional, desenvolvimento que os aparelhos tecnológicos não proporcionam (MALLMANN, 2019; PEDROTTI, 2019).
Geralmente, os pais acreditam que as novas tecnologias colaboram para o desenvolvimento cognitivo de seus filhos, pois há diversas atividades instrutivas na internet, porém Mallmann (2019) afirma que há estudos que comprovam que a criança só começa a entender os conteúdos das mídias digitais após os 18 meses de vida.
Outro ponto importante é o uso dos dispositivos eletrônicos pelos pais, Pedrotti (2019) afirma que muitos pais se voltam tanto para os seus smartphones e esquecem da atenção ao filho, com isso, a interação familiar está cada vez mais comprometida devido ao uso de celulares, tablets e outros aparelhos eletrônicos.
Mallmann (2019) e Pedrotti (2019) acreditam que os dispositivos eletrônicos são essenciais às famílias, com moderação e de acordo com a necessidade do uso dos recursos tecnológicos.
Entretanto, as interações reais devem ser mais constantes que as virtuais, os momentos difíceis no trato com os bebês devem ser manejados de forma que os recursos tecnológicos não sejam a única solução, pais e cuidadores precisam estar sempre presentes
e desenvolver atividades que proporcionam o desenvolvimento da criança.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa foi desenvolvida por meio de uma revisão bibliográfica sobre o uso dos dispositivos eletrônicos e o desenvolvimento de crianças até 1 ano de idade, percebe-se que apesar de ser um assunto polêmico ainda é pouco estudado, não há muita literatura a respeito do assunto, entretanto ficou claro que há mais malefícios do que benefícios.
O objetivo da pesquisa foi analisar se há benefícios ou riscos no uso de celulares e tablets por crianças até 1 ano de idade e conclui-se que o uso da tecnologia durante a execução de atividades de vida diária pode prejudicar o desenvolvimento da criança no que tange à limitação de estímulos vivenciados durante a exposição à tela. Muitos pais ou cuidadores utilizam os aparelhos para entreter seus filhos em momentos diversos, como na hora do almoço, por exemplo, para que a criança aceite a alimentação, porém ao aceitarem, não necessariamente estão prestando atenção aos aspectos sensoriais envolvidos na atividade, como a textura, o gosto, bem como a sensação de estar perto alguém. Esta privação de experiências apresenta-se como risco para o desenvolvimento global de crianças pequenas.
Pesquisas que constam nesse artigo mostraram que a linguagem oral também é prejudicada pelo uso excessivo de dispositivos eletrônicos, considerando a redução de interações com adultos e outras crianças.
Os benefícios do uso da tecnologia para crianças maiores, a partir dos 18 meses de vida, pode ser identificado quando mediado e usado para fins específicos, como momentos de atividades educativas, com horários restritos e controlados. Para crianças menores de 01 ano de vida, não são relatados benefícios do uso da tecnologia e o primeiro ano de vida da criança deve ter foco apenas nas relações pessoais e físicas com pais, cuidadores, familiares e demais pessoas em diferentes contextos.
REFERÊNCIAS
ALMEIDA, J. ; BESSAS, A. Nova chupeta? Celular e tablet podem prejudicar o desenvolvimento de crianças. 2019.
Disponível em: https://www.otempo.com.br/interessa/novachupeta-celular-e-tablet-podem-prejudicar-desenvolvimentode-criancas-1.2170504. Acesso em dez./2020.
Comitê Gestor da Internet no Brasil - CGI. Pesquisa sobre o uso da internet por crianças e adolescentes no Brasil.
2015 / Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto, São Paulo/Brasil: Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2016.
Disponível em: http://criancaeconsumo.org.br/wpcontent/ uploads/2017/02/TIC_Kids_2015.pdf. Acesso em dez./2020.
CHRISTIANO, A. A influência da tecnologia na infância! Perigo ou incentivo?. Plataforma psicologia viva conexa.
Brasil, 2019. Disponível em: https://blog.psicologiaviva.com. br/tecnologia-na-infancia/. Acesso em dez./2020.
DUKEN, C. Intoxicação digital infantil. In: BATISTA, A.: JERUZALINSKY, J. (Org.). Intoxicações eletrônicas: o sujeito na era das relações digitais. Salvador: Agalma, 2017. Capítulo: "Intoxicação digital infantil". p. 117–145
FERNANDES, C. M. EISENSTEIN, E. SILVA, E.J.
C. A criança de 0 a 3 anos e o mundo digital. Portal do e-governo, inclusão digital e sociedade do conhecimento. 2018. Disponível em: https://egov.ufsc.br/portal/conteudo/ crian%C3%A7-de-0-3-anos-e-o-mundo-digital. Acesso em dez./2020.
FERREIRA, M. F. O Universo das Crianças na Mídia
Digital: A experiência de blogs. Anais do I Simpósio de Comunicação e Tecnologias Interativas, 2008 Out 1213; Bauru, Brasil. Disponível em: http://www2.faac.unesp. br/pesquisa/lecotec/eventos/simposio/anais.html. Acesso em dez./2020.
GOMES, S. S. Brincar em Tempos Digitais. Revista Presença Pedagógica – Diálogo entre Universidade e Educação Básica para Formação do Professor, n. 113, p. 44-51. set./out. 2013.
MALLMANN, M. Y. (2019). As novas tecnologias, os bebês e as famílias: o que as mães pensam sobre essa nova realidade? (Dissertação de Mestrado). Instituto de Psicologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS.
MARCONI, M.A.; LAKATOS, E.M. Metodologia do trabalho científico. 8. ed. São Paulo: Atlas/Anhanguera, 2012.
OMS. World Health Organization. 2019. Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age. World Health Organization. https:// apps.who.int/iris/handle/10665/311664. Acesso em dez./2020.
PAIVA, N. M. N.; COSTA, J. S. A influência da tecnologia na infância: desenvolvimento ou ameaça? O Portal dos Psicólogos, 2015. Disponível em: http://www.psicologia.pt/ artigos/textos/A0839.pdf. Acesso em dez./2020.
PEDROTTI, B. G. (2019). Como prescindir das novas tecnologias no cuidado e na interação com os bebês? (Dissertação de Mestrado). Instituto de Psicologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS.
PREVITALE, Ana Paula. A importância do brincar. Campinas: UNICAMP, 2006.
SETZER, V. Efeitos negativos dos meios eletrônicos em crianças, adolescentes e adultos. Depto. de Ciência da Computação, Instituto de Matemática e Estatística da USP. 2014. Disponível em: www.ime.usp.br/~vwsetzer. Acesso em: dez: 2020.
SOSA, A. V. Association of the Type of Toy Used During Play With the Quantity and Quality of Parent-Infant Communication. – Department of Communication Sciences and Disorders, Northern Arizona University, Flagstaff. JAMA Pediatr. v. 170, n. 2, p. 132-137, 2016.
STRASBURGER, VC; HOGAN, MJ. Children, Adolescents, and the Media. Council on Communications and Media.
Pediatrics, v. 132, n. 5, n. 958-61, 2013
BRINCAR E A OCUPAÇÃO: A RELAÇÃO
DE UMA ATIVIDADE SIGNIFICATIVA NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Irakitan Marcos Tavares da Silva Filho
José Sávio Vieira de Sá Júnior
Bárbara Helena de Brito Ângelo
INTRODUÇÃO
O brincar é uma área de experimentação através da qual a criança pode se perceber no mundo, compreender e participar da realidade compartilhada (TAKATORI, 2012). O brincar tem sido objeto de estudo de diversas áreas, sobretudo para a Terapia Ocupacional (TO), seja como recurso terapêutico para ações clínicas ou como ocupação e atividade significativa (FONSECA; SILVA, 2015).
A ocupação é entendida como uma composição de ações humanas e atividades diárias intencionais, em que os indivíduos atribuem significados pessoais. Tais ações são constituídas pelo contexto cultural, os interesses e aspectos da vida que são significativos para cada sujeito (COSTA et al., 2017). Partindo deste pressuposto, o brincar possibilita, além do exercício dos componentes motores, a estruturação do pensar e seus aspectos perceptuais que culminam na construção da identidade, protagonismo, independência e autonomia das crianças (NUNES et al., 2013).
O presente capítulo visa discorrer sobre o brincar enquanto ocupação como uma atividade significativa no desenvolvimento infantil. Para elaborar este capítulo foi realizada uma revisão bibliográfica nos arquivos da Revista de Terapia Ocupacional da Universidade de São Paulo e Cadernos de Terapia Ocupacional da Universidade Federal de São Carlos, além de busca na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando-se os descritores “terapia ocupacional”, “desenvolvimento infantil”, “brincar”, “neuropsicomotor” e “ocupação”.
O BRINCAR COMO UMA ATIVIDADE
SIGNIFICATIVA NO DESENVOLVIMENTO
INFANTIL
A partir do cruzamento dos descritores foram identificados 36 documentos. Foram incluídos artigos redigidos em português que abordavam o brincar na perspectiva da terapia ocupacional. Contudo, não entraram na seleção editoriais, cartas ao editor, estudos reflexivos e trabalhos de conclusão de curso. Após aplicação dos critérios de elegibilidade, oito artigos compuseram a amostra. Os principais resultados destes encontram-se apresentados no quadro 1.
Quadro 1. Caracterização e resultados dos artigos sobre o brincar como uma atividade significativa no desenvolvimento infantil. Recife-PE, 2021.
AUTORES, ANO
RESULTADOS ENCONTRADOS
ZAGUINI et al., 2011 O estudo avaliou o comportamento e engajamento da criança no brincar, bem como as formas de expressar seus sentimentos e interesses; Os autores ressaltam a importância do brincar como recurso terapêutico, mas reconhecem esta atividade como significativa para o desenvolvimento infantil.
NUNES et al., 2013 O estudo buscou compreender a relação entre as atividades cotidianos e lúdicas dentro da rotina de crianças de 5 e 6 anos de idade; Os resultados retratam o significado do brincar enquanto uma das principais ocupações do cotidiano infantil.
AUTORES, ANO
SOUZA; MARINO, 2013
RESULTADOS ENCONTRADOS
Apresentação de um relato de uma intervenção clínica com uma criança prematura;
Os autores abordam o brincar como sendo utilizado para fins de estimulação e apresentam o significado do brincar como um fazer ocupacional da criança.
RIBEIRO; CARDOSO, 2014
FONSECA; SILVA, 2015.
O artigo apresenta uma revisão de literatura acerca do modelo Developmental, Individual Difference, Relationship-based Model - DIR (Desenvolvimento funcional emocional; diferenças individuais e de relacionamento), com ênfase na abordagem Floortime. Refere às peculiaridades do autismo e suas dificuldades em relação ao desempenho do brincar e descreve a importância da atuação do terapeuta ocupacional com crianças autistas; Apresenta toda a estrutura teórica e prática da abordagem, definindo-a como um processo capaz de subsidiar as bases para as crianças autistas em relação ao pensar, comunicação e a interação, mesmo diante das dificuldades existentes e correlacionar o uso da abordagem e os princípios da Terapia Ocupacional.
As autoras discorrem sobre o uso frequente da utilização do brincar como recurso terapêutico para estimular habilidades, como meio de construção de vínculo com a criança e a importância do brincar espontâneo e de forma livre.
PINHEIRO; GOMES, 2016
Os autores fazem uma análise da utilização da temática do brincar nos cursos de Graduação de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional; A Terapia Ocupacional compreende o brincar enquanto necessidade do ser humano; Os resultados enfatizam a valorização do brincar pela Terapia Ocupacional enquanto atividade significativa, na construção de memórias e identidade do sujeito.
AUTORES, ANO RESULTADOS ENCONTRADOS
FIGUEIREDO; SOUZA; SILVA, 2016
PELOSI et al., 2018
O artigo discorre sobre a importância do brincar para o desenvolvimento infantil;
O brincar é visto como uma ocupação, mas também como um recurso de intervenção usado na prática da terapia ocupacional;
Os autores ressaltam a importância da atuação do profissional com crianças deficientes.
O estudo aborda o modelo lúdico como essencial para as intervenções acerca das demandas da criança em relação ao brincar.
A partir da análise dos resultados dos artigos incluídos na amostra, foram construídas três categorias temáticas: a relação entre brincar e ocupação, o brincar como modelo de intervenção na Terapia Ocupacional e as Teorias do Brincar da Terapia Ocupacional.
A RELAÇÃO ENTRE O BRINCAR E A OCUPAÇÃO
O homem é uma complexa constituição de fatores físicos, químicos, sociais, emocionais e ocupacionais. O traço ocupacional caracteriza a especificidade da raça humana e, por ser permeada de significados, é parte da expressão do comportamento de um indivíduo, podendo influenciar, sobretudo, no sentido dado a sua existência (NUNES et al., 2013). Pierce (2003), reflete que a ocupação é uma experiência única construída por uma pessoa inserida num contexto particular e permeada de subjetividade.
A ocupação é algo específico, que se idealiza numa condição de espaço e tempo em que possui início, meio e fim.
As ocupações humanas são representadas desde pequenas responsabilidades até as atividades que são realizadas na sociedade, como exemplos: um momento de lazer, as atividades cotidianas e/ou o trabalho (SALLES e MATSUKURA, 2016). Na infância a ocupação é expressa por meio do lazer, rotina de sono e descanso, ir à escola e brincar. Estas expressões são pertinentes aos diversos contextos e dotadas de sentido para a criança (NUNES et al., 2013).
O brincar é parte crucial para o pleno desenvolvimento infantil, meio pelo qual a criança é exposta a diversos estímulos e estes influenciam diretamente em seu desenvolvimento cognitivo, social e afetivo (ZAGUINI, 2011). No ato de brincar, as percepções infantis são intensificadas, favorecendo o aprendizado ao longo do desenvolvimento. Desta forma, o sujeito internaliza comportamentos que geram transformações e aquisições fundamentais para o seu crescimento e para o alcance de futuros conceitos que serão modificados ao longo da vida (JOAQUIM; SILVA; LOURENÇO, 2018).
Por meio do brincar a criança têm a oportunidade de manusear e explorar objetos com algum sentido que vão possibilitar descobertas, averiguações, escolhas, recriações e aquisição de habilidades (FIGUEIREDO et al., 2016; FONSÊCA; SILVA, 2015; PELOSI et al., 2018). Tais aspectos fazem parte do desenvolvimento
neuropsicomotor (DNPM) do indivíduo. O DNPM pode ser entendido como um conjunto sequencial de aquisição das funções e habilidades cognitivas, comportamentais e motoras, caracterizado como um processo de maturação do Sistema Nervoso Central (SNC), associado às etapas cronológicas da vida do indivíduo. (TEIXEIRA et al., 2019)
Ademais, a partir da realização do brincar, a criança se envolve em suas primeiras experiências, se constitui enquanto indivíduo e compreende o mundo que lhe cerca (LIMA; OKUMA PASTORE, 2013). O brincar é a maneira de se expressar enquanto sujeito e a sua subjetividade, através do qual a criança interliga sua individualidade com o meio social, permitindo aos envolvidos a prática das habilidades de interação e de adaptação (NUNES et al., 2013). De acordo com Nunes et al., (2013), a criança passa a interagir com outras pessoas durante o ato de brincar, seja em ambiente familiar e/ou em outros espaços em que se encontra inserida, compartilhando o seu cotidiano com sua rede de relações.
Desta forma, estimular os componentes do desempenho ocupacional satisfatório através do brincar é uma maneira de promover a independência nas suas atividades de vida diária, na participação ativa do lazer e nos relacionamentos interpessoais com vistas a melhoria da qualidade de vida da criança (SOUZA; MARINO, 2013).
O BRINCAR COMO MODELO DE
INTERVENÇÃO NA TERAPIA OCUPACIONAL
Para a Terapia Ocupacional, a compreensão em relação ao brincar enquanto intervenção é construída desde a formação acadêmica. Em um estudo que buscou analisar a abordagem do brincar em cursos de graduação da área da saúde os autores relatam que no curso de Terapia Ocupacional, o brincar é entendido como ocupação humana, e que pode ser avaliado dentro de vários contextos e competências, por proporcionar estímulo a várias habilidades importantes no desenvolvimento, como por exemplo, motora, cognitiva e social. A partir disso, a Terapia Ocupacional auxilia a criança a promover um melhor desempenho ocupacional nesta atividade (PINHEIRO; GOMES, 2015).
A experiência do brincar pela ótica da Terapia Ocupacional busca favorecer o bom desempenho ocupacional, mediado por recursos, atividades lúdicas e brincadeiras (SOUZA; MARINO, 2013). Assim, o brincar pode ser considerado uma atividade que facilita o trabalho dos profissionais, ao promover maior engajamento da criança durante a intervenção e, consequentemente, auxilia no desenvolvimento de aquisições nos aspectos comportamentais (SOUZA; MARINO, 2013).
Ainda sobre a prática do terapeuta ocupacional, o brincar também se estabelece como um meio relacional de construção de vínculo e de descoberta sobre os aspectos que despertam interesse e prazer na criança. Com isto, o profissional atua como mediador
na atividade do brincar, avaliando as características intrínsecas no contexto em que a criança se encontra inserida (PELOSI et al., 2018).
Ao entender o comportamento lúdico da criança, o profissional da terapia ocupacional percebe habilidades individuais que estão relacionadas com a realidade de cada criança (NUNES et al., 2013). E a partir dessa compreensão, durante os atendimentos, o profissional compartilha com os genitores informações relevantes sobre o brincar dentro do contexto vivenciado diariamente pela criança (FIGUEIREDO et al., 2016).
Contudo, apesar dos dados apresentados, é válido ressaltar que profissionais possuem uma tendência em utilizar o brincar como forma de alcançar objetivos das intervenções e não com uma das metas da intervenção. De acordo com Fonseca e Silva (2015), uma parte dos profissionais utilizam o brincar para promover o ganho de habilidades importantes para o desenvolvimento infantil, mesmo reconhecendo que esta atividade não deve ser utilizada apenas com este objetivo, mas que a criança deve experimentar deste brincar de uma forma livre, por si mesmo, e em outros contextos de sua vida. Com isso, as autoras referem que a superação do olhar na forma como o brincar é proposto nas terapias, pode trazer mais benefícios para as crianças e suas famílias.
Silva e Pontes (2013) corroboram com a ideia do brincar como fim em si mesmo, em que a prática clínica protagonize a vida lúdica da criança como objetivo. Para estes autores, esta atitude
torna-se tão eficaz quanto a utilização desta atividade para estimular outras habilidades, sendo uma maneira de promover saúde e bem-estar.
A relação entre atividade e brincar se caracteriza por um compilado de comportamentos e ações repletos de sentido e valor existentes no espaço e tempo em que o brincar se desenvolve. Essa relação só se torna válida e significativa se for protagonizada pelo brincante, sendo este o proprietário por aquilo que faz durante o ato de brincar. É este sentimento de pertencimento e apropriação que a criança conhece, adapta, usa, expressa, transforma e se torna componente de uma cultura que ela vivencia através de suas experiências (TAKATORI, 2012, p. 37).
Desta forma, as atividades que o indivíduo realiza na terapia e expande para outros contextos de seu cotidiano se constituem como reflexos da experiência do fazer no ambiente em que a terapia acontece e da relação existente entre terapeuta, paciente e atividade. Assim, os diversos elementos intrínsecos na história de vida do indivíduo, tais como acontecimentos, pessoas, relações e lugares passam a fazer parte da história construída na relação de cuidado, de modo que o sujeito poderá utilizar o que viveu na terapia, sem necessitar da presença do terapeuta na realização destas atividades (TAKATORI, 2012).
Assim, pode-se afirmar, que o brincar torna-se um modelo de intervenção na prática clínica da terapia ocupacional como fim e objeto de intervenção, mas também, como meio para ampliação
da autonomia da criança, aumento do repertório social, e um amadurecimento das habilidades motoras e cognitivas (ZAGUINI, et al., 2011).
AS TEORIAS DO BRINCAR DA TERAPIA OCUPACIONAL
A concepção sobre o brincar e a maneira como é utilizada enquanto prática com crianças tem seu arcabouço teórico oriundo de outros núcleos profissionais, como a Psicologia, com destaque para as concepções teóricas de Piaget, Winnicot e Vygotsky. Contudo, é válido ressaltar que, apesar de pouco numerosas, há relevantes autoras da Terapia Ocupacional que discorrem sobre o brincar enquanto norteadoras das práticas, sendo elas Ferland, Takatori e Blanche (FONSECA; SILVA, 2015).
Para Ferland (2006) existem duas linhas acerca da utilização do brincar. A primeira utiliza o brincar como um instrumento que propicie o interesse da criança na terapia, podendo estar vinculada a um determinado método de tratamento. A segunda enxerga o brincar de maneira mais ampla, em que este é utilizado pelos terapeutas ocupacionais para muito além de uma proposta de atividade. Nesta segunda linha, a imaginação e a criatividade são agregadas na terapia, e levam a criança para uma dimensão maior de experiências.
Em contrapartida, Blanche (2000) percebe o brincar na intervenção clínica através de três formas. A primeira delas utiliza
o brincar para instigar a participação da criança, engajamento na terapia e alcance dos objetivos propostos. A segunda, enxerga o brincar como meio de adquirir habilidades específicas do desenvolvimento através de respostas adaptativas, utilizando como meio algum método específico de intervenção. Por fim, a terceira forma emprega o brincar como fim em si mesmo, proporcionando experiências de prazer, o ato de agir de forma flexível e natural.
Pierce (2000) identifica não três, mas quatro maneiras para a análise e utilização do brincar pelo terapeuta ocupacional. A primeira está relacionada ao uso do brincar para atrair a atenção da criança e como forma de recompensá-lo. A segunda maneira está relacionada ao uso do brincar para estimular habilidades relativas ao desenvolvimento infantil e de forma isolada, como as funções motoras, cognitivas e sensoriais. A terceira, tem como intuito estimular o reconhecimento das dimensões sociais, temporais e espaciais. Por fim, a quarta maneira se refere a utilização do brincar como meio de possibilitar a ampliação do repertório ocupacional do indivíduo, sendo este último caminho raramente utilizado pelos terapeutas ocupacionais (apud TAKATORI, 2012, p. 28).
Apesar das vertentes teóricas apresentadas, é consenso que as metodologias adotadas e a forma que o brincar é utilizado são influenciadas pelo público assistido, a realidade local e pelos próprios profissionais (SILVA; PONTES, 2013). Diante disso, há a necessidade de perceber o brincar e elencar intervenções e objetivos baseados no sentido ocupacional para a criança (FOLHA; BARBA, 2020).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O brincar é considerado uma ocupação fundamental para o desenvolvimento do indivíduo, primordial na infância e uma das principais áreas exploradas na prática da Terapia Ocupacional. Mediante análise dos artigos que compuseram a amostra, foi possível perceber que a maioria dos estudos abordaram o brincar como recurso terapêutico para aquisição de habilidades. Contudo, em cinco deles, o brincar foi analisado enquanto ocupação e atividade significativa. Portanto, sugere-se a realização de estudos que aprofundem a compreensão do brincar no sentido ocupacional, significativo e de forma livre.
REFERÊNCIAS
AOKI, M.; OLIVER, F. C.; NICOLAU, S. M. Pelo direito de brincar: Conhecendo a infância e potencializando a ação da Terapia Ocupacional. Rev Ter Ocup Univ São Paulo. v. 17, n. 2, p. 57-63, maio/ago., 2006.
AOTA, ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE TERAPIA
OCUPACIONAL. Estrutura da prática da terapia ocupacional: domínio & processo. Revista de Terapia
Ocupacional da Universidade de São Paulo, p. 1-49, 2015.
BLANCHE, E.I. Fazer junto com – não fazer para: a recreação e as crianças portadoras de paralisia cerebral. In: PARHAM, L.D.; FAZIO, L.S. A recreação na terapia ocupacional pediátrica. São Paulo: Santos, p. 202-218, 2000
CAMPOS, S. D. F. et al. O brincar para o desenvolvimento do esquema corporal, orientação espacial e temporal: análise de uma intervenção. Brazilian Journal of Occupational Therapy/Cadernos Brasileiros de Terapia
Ocupacional, v. 25, n. 2, p. 275-285, fev. 2017.
COSTA, E. F. et al. Ciência Ocupacional e Terapia
Ocupacional: algumas reflexões/Occupational Science and Occupational Therapy: some reflections. Revista Interinstitucional Brasileira de Terapia OcupacionalREVISBRATO, v. 1, n. 5, p. 650-663, jun/out. 2017.
FERLAND, F. O modelo lúdico: o brincar, a criança com deficiência física e a terapia ocupacional. 3 ed. São Paulo: Roca, 2006.
FIGUEIREDO, B. A.; SOUZA, D. S.; SILVA, Â. C. D. O
brincar de crianças com deficiência física: contribuição da terapia ocupacional. Revista de Terapia Ocupacional da Universidade de São Paulo, v. 27, n. 1, p. 29-35, jan/abr. 2016.
FOLHA, D. R. da S. C.; BARBA, P. C. de S. D.; Produção de conhecimento sobre terapia ocupacional e ocupações infantis: uma revisão de literatura. Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, v. 28, n. 1, p. 227-245, jul/abr. 2020.
FONSÊCA, M. E. D.; DA SILVA, Â. C. D. Concepções e uso do brincar na prática clínica de terapeutas ocupacionais/ Conceptions and use of play in occupational therapists clinical practice. Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, v. 23, n. 3, p. 589-597, maio. 2015
GIARDINETTO, A. R. dos S. B. et al. A importância da atuação da terapia ocupacional com a população infantil hospitalizada: a visão de profissionais da área da saúde. Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, v. 17, n.1, p. 63-69, jan/jun. 2009
GRIGOLATTO, T. et al. Intervenção Terapêutica Ocupacional em CTI Pediátrico: um estudo de caso. Cadernos de Terapia Ocupacional da UFSCar, São Carlos, v. 16, n. 1, p. 37-46, jan/jun. 2008.
JOAQUIM, R. H. V. T.; DA SILVA, F. R.; LOURENÇO, G. F. O faz de conta e as brincadeiras como estratégia de intervenção para uma criança com atraso no desenvolvimento infantil/The make-believe and games as an intervention strategy for an infant with delay in child development. Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, v. 26, n. 1, p. 63-71, mai/ago. 2018
LIMA, E. M. F. de A.; OKUMA, D. G.; PASTORE, M. D. N. Atividade, ação, fazer e ocupação: a discussão dos termos na Terapia Ocupacional brasileira. Cad. Ter. Ocup. UFSCar (Impr.), v. 21, n. 2, p. 243-254, set/mar. 2013.
NUNES, F. B. da S. et al. Retratos do cotidiano de meninos de cinco e seis anos: a atividade de brincar/Daily portraits of five and six-year old boys: the play activity. Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, v. 21, n. 2, p. 275287, abr/jun. 2013.
PELOSI, M. B.; TEIXEIRA, P. de O.; NASCIMENTO, J. S. O uso de jogos interativos por crianças com síndrome de Down. Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, v. 27, n. 4, p. 718-733, jan/abr. 2019.
PELOSI, M. B. et al. Evolução do comportamento lúdico de crianças com síndrome de Down. Revista de Terapia Ocupacional da Universidade de São Paulo, v. 29, n. 2, p. 170-178, maio/ago. 2018.
PINHEIRO, M. F. G.; GOMES, C. L. Abordagens do brincar em cursos de graduação na área da saúde: educação física, fisioterapia e terapia ocupacional. Movimento, v. 22, n. 2, p. 555-565, abr/jun. 2016.
PIERCE, D. Desembaraçando ocupação e atividade. Tradução de Joana Benetton. Revisão de Cecília Cruz Villares. Revista do CETO, São Paulo, v. 8, n. 8, p. 13-26, 2003.
RIBEIRO, L. de C.; CARDOSO, A. A. Abordagem Floortime no tratamento da criança autista: possibilidades de uso pelo terapeuta ocupacional/Floortime approach in the treatment of autistic child: possibilities for use by occupational therapists. Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, v. 22, n. 2, p. 399-408, nov/jun. 2014.
SALLES, M. M.; MATSUKURA, T. S. O uso dos conceitos de ocupação e atividade na Terapia Ocupacional: uma revisão sistemática da literatura/The use of occupation and activity concepts in Occupational Therapy: a systematic literature review. Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, v. 24, n. 4, p. 801-810, jan/dez. 2016.
SILVA, C. C. B.; PONTES, F. V. A utilização do brincar nas práticas de terapeutas ocupacionais da Baixada Santista. Revista de Terapia Ocupacional da Universidade de São Paulo, v. 24, n. 3, p. 226-232, 2013.
SOUZA, D. da S.; DE FIGUEIREDO, B. A.; DA SILVA, A. C. D. O brincar de crianças com deficiência física sob a perspectiva dos pais. Brazilian Journal of Occupational Therapy/Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, v. 25, n. 2, p. 267-274, dez/set. 2017
SOUZA, A. C.; MARINO, M. de S. F. Atuação do Terapeuta Ocupacional com crianças com atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Cadernos de Terapia Ocupacional da UFSCar, v. 21, n. 1, p. 149-153, nov/jun. 2013.
TAKATORI, M. O brincar na Terapia Ocupacional: um enfoque na criança com lesões neurológicas. Zagodoni Editora: São Paulo, 2012.
TEIXEIRA, N. M. P. et al. Desenvolvimento neuropsicomotor e o brincar de crianças em uma Unidade de Educação Infantil. Revista De Terapia Ocupacional Da Universidade De São Paulo, v. 30, n. 2, p. 116-123, 2019.
ZAGUINI, C. G. S. et al. Avaliação do comportamento lúdico da criança com paralisia cerebral e da percepção de seus cuidadores. Acta Fisiatrica, São Paulo, v. 18, n. 4, p. 187191, set/fev. 2011.
DIFICULDADES ALIMENTARES
NA INFÂNCIA: UMA ABORDAGEM
INTERDISCIPLINAR COM FOCO
NA FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA
OCUPACIONAL
Sarah Junia Verçosa Quirino
Viviane Gurgel Moreira
Chenia Caldeira Martinez
INTRODUÇÃO
A alimentação é um processo complexo, que requer interação de vários componentes do corpo humano e do meio que o cerca. Em crianças, a alimentação ocorre no contexto da díade cuidador-criança, inseridos no ambiente familiar. O sistema nervoso central e periférico, mecanismos orofaríngeos, sistema cardiopulmonar e digestório, com suporte de estruturas craniofaciais e musculoesqueléticas estão envolvidos (LEVY; ALMEIDA, 2018).
Além disso, é importante destacar que comer é um ato aprendido que depende de inúmeros fatores não somente orgânicos, mas também psicológicos, emocionais, comportamentais e sociais, pois se relaciona diretamente com hábitos, senso de cultura e de sociedade, além de considerar também o contexto em que a criança está inserida (JUNQUEIRA, 2017; MORRIS; KLEIN, 2000).
Uma interrupção em qualquer um desses componentes coloca a criança em risco para um distúrbio alimentar e complicações associadas. Frequentemente, mais de um componente pode estar prejudicado, contribuindo para o desenvolvimento de dificuldades alimentares na infância (GODAY, 2019).
As dificuldades alimentares vêm apresentando alta frequência e relevância na atuação clínica na infância, com diagnósticos associados ou não. Cerca de 50% dos bebês e crianças pequenas apresentam problemas de alimentação (ROMMEL, 2003). As dificuldades podem ser de várias ordens, como motoras, sensoriais, comportamentais e sociais; manifestam-se, geralmente, no início da introdução alimentar ou ao longo da infância; podem ter grandes impactos nos fatores nutricionais e saúde em
geral, e até mesmo no funcionamento familiar e social (GODAY, 2019).
Vários profissionais estão envolvidos na identificação e no tratamento de dificuldades alimentares, como fonoaudiólogos, médicos, nutricionistas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, entre outros. A avaliação e o tratamento eficazes frequentemente requerem o envolvimento de diversas especialidades.
A nomenclatura das dificuldades alimentares não é consenso na literatura, assim como a distinção das abordagens da Fonoaudiologia e da Terapia Ocupacional. A falta de uma definição universalmente aceita tem, portanto, dificultado o cuidado colaborativo (GODAY, 2019). Na prática clínica, observamos que as crianças podem ser encaminhadas indistintamente para apenas um único profissional com a referência genérica de “seletividade alimentar”. Neste contexto, percebe-se que há um nó crítico tanto na clínica, quanto no meio acadêmico-científico, que envolve a falta de consenso na nomenclatura, nas definições, nos diagnósticos e nas intervenções, podendo ser um limitador importante na capacitação de profissionais para atuarem com intervenção precoce com essas crianças.
Este capítulo objetiva apresentar uma revisão ampla sobre a nomenclatura das desordens que geram dificuldades alimentares na infância, identificar os papéis da equipe multiprofissional, apresentar algumas abordagens de tratamentos e as especificidades das atuações da Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional.
CONCEITOS
Nomenclatura e etiologia das dificuldades alimentares
Goday (2019) apresenta o termo “Pediatric feeding disorders” - PFD, traduzido como “Distúrbio de alimentação infantil”, que é definido como a ingestão oral prejudicada, que não é apropriada para a idade, e está associada com alterações na habilidade de alimentação, presença de doença orgânica, disfunção nutricional ou psicossocial. Para distinguir entre PFD e transtornos alimentares (por exemplo, anorexia nervosa), PFD deve ser diagnosticado apenas na ausência de distúrbios da imagem corporal. Embora o transtorno de ingestão de substâncias que não são alimentos (chamado transtorno pica) e o transtorno da regurgitação repetida sem náusea nem transtorno gastrointestinal (chamado transtorno de ruminação) possam ser associados com PFD, sua presença por si só não constitui PFD. Portanto, são quatro domínios importantes que fundamentam o PFD: fatores médicos, nutricionais, habilidades de alimentação e psicossociais. Por causa da interação entre esses domínios, o prejuízo em um pode levar à disfunção em qualquer um dos outros.
Segundo Bryant-Waughet et al. (2010) e Kreipe e Palomaki (2012), é possível propor a classificação das alterações alimentares sob três alterações possíveis:
1. Crianças comendo muito pouco ou com apetite limitado: Essas crianças variam entre aquelas que estão comendo
apropriadamente, mas parecem comer muito pouco (percepção equivocada dos pais) até aquelas com doença orgânica evidente.
2. Crianças comendo um número restrito de alimentos ou com seletividade: gama de crianças que são consideradas seletivas, ou seja, que escolhem muito os alimentos.
3. Crianças com medo de se alimentar: Qualquer problema relacionado à alimentação, que inclui mostrar-se severamente aversivo a experiências que podem causar medo de se alimentar. Essa experiência pode ser contínua ou condicionada por eventos passados, justificando o termo “pós-traumático”. Três padrões distintos são discerníveis: medo de se alimentar depois de um único evento, por exemplo asfixia; medo por sentir dor ou por ter vivenciado procedimentos orais desagradáveis; e medo relacionado ao uso de via alternativa de alimentação, ou ainda crianças que tenham tido poucas experiências alimentares ou vivências nocivas relacionadas à alimentação.
De acordo com Kerzner (2015), as alterações alimentares infantis precoces podem ser agrupadas sob o termo genérico “dificuldade alimentar” como nomenclatura geral. Essa expressão seria um termo guarda-chuva útil que simplesmente sugere que existe um problema de alimentação de algum tipo. Kerzner (2015), então propõe uma classificação baseada em características de apresentação do quadro, organizada em sete perfis:
1. interpretação equivocada dos pais,
2. ingestão altamente seletiva,
3. criança agitada com baixo apetite,
4. fobia alimentar ou neofobia para alimentos novos,
5. presença de doença orgânica,
1. criança com distúrbio psicológico ou negligenciada,
2. choro que interfere na alimentação.
Junqueira et al. (2015), organiza sua abordagem considerando: 1 - dificuldades físicas; 2 - dificuldades sensoriais; 3 - dificuldades estruturais; 4 - habilidades e oportunidades oferecidas pelo ambiente.
A nomenclatura “Transtorno alimentar” é utilizada para descrever um problema grave que resulta em substanciais efeitos orgânicos, nutricionais ou com consequências emocionais, como utilizado no DSM-V - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Quinta Edição (APA, 2014) e no CID-10International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Décima revisão (WHO, 2004).
No DSM-V, ele é chamado de Transtorno Alimentar Restritivo/ Evitativo - TARE - 307.59 (F50.8), que substitui e amplia o diagnóstico do DSM-IV de transtorno da alimentação da primeira infância. É um distúrbio alimentar que apresenta característica de falta aparente de interesse na alimentação ou em alimentos; esquiva baseada nas características sensoriais do alimento; preocupação acerca de consequências aversivas alimentares. A principal
característica diagnóstica do transtorno alimentar restritivo/evitativo é a esquiva ou a restrição da ingestão alimentar manifestada por fracasso clinicamente significativo em satisfazer as demandas de nutrição ou ingestão energética insuficiente, por meio da ingestão oral de alimentos. Um ou mais dos seguintes aspectos-chave devem estar presentes: perda de peso significativa, deficiência nutricional significativa (ou impacto relacionado à saúde), dependência de alimentação enteral ou suplementos nutricionais orais ou interferência marcante no funcionamento psicossocial (APA, 2014).
De acordo com o CID 10 é chamado de Transtorno de alimentação na infância - F98.2, descrito por Transtorno de alimentação com manifestações diversas geralmente específicas da criança muito jovem e do início da infância. Este transtorno leva, geralmente, à recusa de alimentos e a uma seletividade extrema, independentemente da qualidade dos alimentos ou dos cuidados para que a criança se alimente bem. O transtorno da ruminação (regurgitação repetida sem náusea nem transtorno gastrointestinal) pode estar associado. Existe também a nomenclatura genérica do CID 10 - R63.3 - Dificuldades de alimentação e erros na administração de alimentos (WHO, 2004).
Com base nas informações supracitadas, foi escolhido para esse capítulo o uso do termo geral “dificuldades alimentares” na presença de qualquer alteração no processo de alimentação, que se distinguirá entre seletividade, ou algumas das especificidades citadas acima.
Alimentação e funcionalidade
A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) faz parte das classificações internacionais desenvolvidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e criada para proporcionar um sistema de codificação de informações de saúde e criar uma linguagem padronizada entre profissionais de saúde, facilitando o entendimento e a disseminação de informação (OMS, 2003). A funcionalidade e a incapacidade de uma pessoa em uma atividade resultam da interação dinâmica entre os estados de saúde (doenças, lesões, traumas) e os fatores contextuais (que englobam fatores pessoais e ambientais) como demonstrado na figura 1 (OMS, 2003), ou seja, determinada intervenção pode modificar um ou vários outros elementos, resultando em uma maior ou menor participação do indivíduo nas suas atividades.
Figura 1 - Interações entre os componentes da CIF.
Estado de Saúde (distúrbio ou doença)
Funções & Estruturas Corporais
Atividade
Participação
Fatores Ambientais Fatores Pessoais
Fatores Contextuais
Fonte: OMS, 2003, p. 20.
Baseado no modelo da CIF, a restrição na participação na alimentação pode ser resultado de fatores como a presença de um estado de saúde limitante, alteração na funções e estruturas do corpo (como a má formação do palato, cardiopatias, atresia do esôfago, alteração na função sensório-motora, de deglutição, respiração), barreiras em fatores pessoais (como crenças pessoais, comportamento opositor, questões de saúde mental da criança) ou barreiras ambientais (como falta de organização da rotina, postura do cuidador durante a alimentação, falta de acesso à profissionais de saúde).
Dessa forma, é importante ressaltar que para atuar com as dificuldades alimentares é necessária uma visão integral da criança e da família. Uma equipe multiprofissional interdisciplinar terá melhores condições de analisar todos os aspectos envolvidos.
ASPECTOS QUE INFLUENCIAM NA ALIMENTAÇÃO
Atuação interdisciplinar
Dado o caráter dinâmico e complexo do processo de alimentação, como apresentado até aqui, que requer integração entre ações orgânicas, emocionais e ambientais, entende-se que a intervenção em questões relacionadas à dificuldade alimentar exige uma abordagem multiprofissional, independente da origem do problema (MAXIMINO, 2016). Questões relacionadas ao
comportamento da criança, às crenças, aos valores, aos hábitos e à organização dos familiares devem ser considerados por toda a equipe. Neste modelo interdisciplinar, uma sugestão das atribuições está descrita no quadro 1.
Quadro 1 - Atuação de diferentes profissionais em dificuldade alimentar infantil
Atuação global com abordagem familiar e estratégias comportamentais: inter e transdisciplinar
Atuações específicas (interdisciplinar): Fonoaudiólogo Terapeuta Ocupaciona
Estruturas orofaciais; Sensorial oral;
Funções orais: sucção, respiração, mastigação, deglutição, fala
Processamento sensorial; Tecnologia assistiva
Nutricionista Psicólogo Médico
Estado nutricional e antropométrico
Dietas e acompanhamento dietético
Aspectos psicológicos, emocionais, sociais, comportamentais da criança, e relacionados ao ambiente e família
Fonte: ABELENDA, ARMENDARIZ, 2020.
Questões orgânicas gerais, solicitação e análise de exames, pesquisa de alergias, doenças do trato gastrointestinal, prescrição de medicamentos, etc.
Uma possibilidade de atuação são as intervenções com foco nos aspectos cognitivos e comportamentais, definidas como estratégias baseadas em princípios de aprendizagem operante. As estratégias incluem, à atenção diferenciada, reforço positivo, orientação física, extinção e modelagem de comportamento, dentro outros (HOWE; WANG, 2013). Em contrapartida, Junqueira
(2015) aponta que uma abordagem terapêutica abrangente e integrativa, por meio de uma visão ampliada sobre o desenvolvimento infantil, é eficaz. Nessa perspectiva, é fundamental reconhecer a importância do contexto e das relações no desenvolvimento infantil.
Ressalta-se que questões da abordagem familiar e comportamentais podem ser conduzidas por toda a equipe, de forma inter e transdisciplinar, desde que o profissional seja capacitado para determinada atuação.
Abordagem familiar
Pelo caráter diático, entre criança e família, no processo de alimentação as estratégias de intervenção desenvolvidas sob esse olhar compreendem que a criança também deve ser responsável pelas tomadas de decisões relacionadas à sua alimentação e que a postura do cuidador durante o processo alimentar interfere na aceitação da criança ao alimento (JUNQUEIRA, 2017).
Segundo Junqueira (2017) a alimentação é um ato aprendido que se inicia nas relações entre criança, família e alimento. Assim, a família terá um papel importante no desenvolvimento da criança, nas suas relações com o meio, além de ser responsável pela organização dos horários alimentares, por criar um ambiente propício, retirar distratores presentes à mesa, pela postura, pela interpretação de emoções, pela promoção de crenças, pela comunicação nos momentos de refeição, pela identificação das potencialidades e dificuldades da criança, ou seja, por diversos aspectos
que vão interferir na aprendizagem e na relação da criança com o alimento.
A criança também terá um papel fundamental relacionado à manifestação de fome e saciedade, regulando a quantidade de alimento que consome. Para confiar esse papel à criança deve-se compreender que desde bebê, ela possui este mecanismo biológico que determina a sensação de fome e saciedade, e que variações na quantidade de alimento aceita no dia a dia, são comuns e dependem de aspectos individuais, não sendo possível basear a quantidade de alimento que a criança necessita comer comparando com outra criança (JUNQUEIRA, 2017).
O papel de todos os profissionais é o de fornecer aos cuidadores informações e recomendações sobre como facilitar comportamentos alimentares, quebrar mitos relacionados à alimentação, auxiliar na organização da rotina alimentar e tirar as dúvidas da família durante o processo. Os casos em que a criança possui alguma comorbidade que impacta direta ou indiretamente da dificuldade alimentar (déficits neurológicos, alergias alimentares, diabetes, erro inato do metabolismo, anorexia, entre outros) e que podem alterar o processo interno de controle de regulação do apetite e saciedade deverão ser acompanhados por outros profissionais como gastroenterologista, nutricionista, e psicólogo (JUNQUEIRA, 2017).
Para falar sobre abordagem direcionada à família, é importante compreender que cada cuidador pode possuir um estilo parental diferente e que esse estilo pode influenciar na resposta da criança frente ao desenvolvimento alimentar. Além disso, existem
diversas configurações e características familiares, e uma análise profunda e especializada é fundamental. Existem estilos parentais como ‘responsivas’, ‘controlador’, ‘ permissivo’, e ‘negligente’ e essas características podem influenciar diretamente no sistema familiar (HUGHES et. al., 2005.; SAVAGE; FISHER; BIRCH, 2007).
Responsivas
As famílias responsivas são as famílias que percebem que a opinião da criança importa no momento de tomada de decisão e respondem adequadamente às crianças. Elas incentivam o diálogo e o raciocínio, expõem seu ponto de vista e colocam limites necessários, assumindo o papel de autoridade, mas compreendendo que a criança possui interesses próprios e gostos particulares (WEBER et al., 2004).
Durante a alimentação, a família responsiva realiza a divisão de responsabilidades, guiando a criança durante todo o processo. Um alimentador responsivo organiza a rotina, incentiva a criança a participar de todas as etapas do processo, fala positivamente sobre a alimentação, oferece bons exemplos, estabelece limites e responde de forma receptiva aos sinais de fome da criança. Segundo Hughes et al. (2005) e Savage, Fisher e Birch (2007) esse estilo parental têm resultado em crianças com melhores hábitos alimentares e baixo índice de sobrepeso.
Os pais controladores ou autoritários compreendem que possuem papel absoluto na tomada de decisões no que se refere à vida dos filhos. Consideram a obediência uma virtude e podem usar medidas punitivas como forma de resolver conflitos. Nessas famílias, o diálogo pode estar prejudicado e as particularidades da criança frequentemente não são percebidas na criação de regras (WEBER et al., 2004).
Durante a alimentação, estes cuidadores podem não confiar na palavra da criança, não percebendo sinais de saciedade e de fome, e quando esta se recusa a comer, podem usar da força, recompensas inadequadas ou punições para coagir a criança a comer (HUGHES et al., 2005). Inicialmente essas práticas parecem eficazes, porém aos poucos perdem a eficácia, sendo necessário recompensas cada vez mais inadequadas, ou punições cada vez mais rígidas (WEBER et al., 2004), resultando em hábitos alimentares ruins e alto risco de sobrepeso (HUGHES et al., 2005; SAVAGE; FISHER; BIRCH, 2007).
Permissivos
Os pais permissivos ou indulgentes se comportam de maneira receptiva aos desejos da criança. Eles compreendem que são os responsáveis por oferecer tudo o que a criança solicita e adotam uma postura passiva, deixando que a criança tome as decisões do que deve ou não fazer. Não se colocam como um modelo ou agente para moldar o comportamento da criança (WEBER et al., 2004).
No momento da alimentação, estes cuidadores alimentam a criança com tudo que ela exige, sem restrição de qualidade, quantidade e horário dos alimentos. Caso a criança se oponha a comer algo, frequentemente preparam algo especial ou múltiplos alimentos, na tentativa de saciar as vontades dela, ignorando os sinais de fome da criança, não definindo limites e regras, ou uma rotina alimentar saudável (SAVAGE; FISHER; BIRCH, 2007). Segundo Hughes et al. (2005) e Savage, Fisher e Birch (2007), as crianças que possuem estes pais podem apresentar um consumo aumentado de alimentos com baixo valor nutricional, aumentando o risco de sobrepeso.
Negligente
Pais negligentes tendem a não assumir suas responsabilidades na educação dos filhos e respondem aos pedidos da criança como forma de resolver a questão, sem se responsabilizar por ela. Eles podem não se envolver com seus papéis de autoridade. A longo prazo, tendem a não servir mais de referência de autoridade para os filhos. Este estilo parental é diferente da negligência abusiva, que é uma violência contra a criança (WEBER et al., 2004).
Os familiares de comportamento negligente abandonam suas responsabilidades no cuidado e educação das crianças. Eles ignoram a responsabilidade de alimentar a criança e podem deixar de oferecer comida de qualidade ou estabelecer limites. Um maior risco de obesidade foi associado a este estilo parental (HUGHES et al., 2005; SAVAGE; FISHER; BIRCH, 2007).
Compreender em qual estilo parental a família se encaixa é primordial para conseguir orientá-la sobre posturas mais assertivas, relacionadas à educação e alimentação dos filhos, pois comer é, sem dúvida, um ato aprendido. O foco da estratégia voltada para a família está na melhora da competência alimentar das crianças, de seus cuidadores e na melhora da interação entre eles.
Atuação da Fonoaudiologia
É de competência exclusiva do fonoaudiólogo realizar avaliação e propor intervenção quando há alterações nas estruturas e funções envolvidas no processo de sucção, mastigação e deglutição que compõem a alimentação.
A avaliação deve contemplar a aparência e postura de face, lábios, língua, frênulo lingual, bochechas, palato duro e mole, mandíbula, maxila e tonsilas. Deve ser avaliada a mobilidade e o tônus das estruturas móveis e articulações temporomandibulares. Também as funções de respiração, sucção, mastigação, deglutição e fala. A análise do sistema miofuncional orofacial inclui também aspectos como sensibilidade extra e intraoral, presença de dor, responsividade à temperatura, ao toque, aos sabores e às texturas. Existem alguns recursos de avaliação para essas demandas, como os protocolos AMIOFE (FELICIO, 2014) e MBGR (GENARO, 2009) trazem essas análises e podem auxiliar o fonoaudiólogo e executá-las.
A alimentação via oral deve ser um processo eficiente na preparação e no transporte do alimento desde a boca até o estômago,
e deve favorecer a preservação da energia e a eficiência, contribuindo, assim, para o crescimento e o desenvolvimento da criança. Além disso, deve ser um processo seguro, impedindo a penetração e aspiração de alimentos e secreções nas vias aéreas, preservando, dessa maneira, a função respiratória (MADUREIRA, 2013).
Os distúrbios da deglutição, ou disfagia, são alterações em qualquer das fases da deglutição, isoladamente ou em combinação entre elas. As disfagias orofaríngeas e esofágicas são fatores de risco para a criança desenvolver dificuldades alimentares (LEVY; ALMEIDA, 2018), e nesse sentido o fonoaudiólogo vai trabalhar com a identificação, avaliação da biomecânica e reabilitação dos distúrbios envolvendo a deglutição, associado ao trabalho de promoção da alimentação participativa e saudável.
Alterações nas funções orais, e mais especificamente no processo de deglutição, devem ser gerenciadas pelo fonoaudiólogo.
De acordo com Ishigaki e Silvério (2015), as principais alterações abordadas pelo fonoaudiólogo em disfagia infantil são:
1. Alteração na captação do utensílio alimentar pelos lábios.
2. Ausência de vedamento labial durante o preparo oral e a deglutição.
3. Escape extra oral do alimento.
4. Alteração no preparo e na organização oral.
5. Aumento do tempo de trânsito oral.
6. Sinais de escape precoce do alimento para a faringe.
O fonoaudiólogo é orientado a realizar as seguintes ações (ISHIGAKI; SILVÉRIO, 2015), quando aplicados a cada caso:
1. Instruir familiares e cuidadores em relação às alterações da deglutição e seus comprometimentos clínicos.
2. Adequar e orientar familiares e cuidadores em relação à postura, consistências, utensílios e forma de oferta alimentar mais adequada para cada criança.
3. Indicar precocemente a avaliação médica com relação à indicação do uso de via alternativa de alimentação quando esta se torna necessária.
4. Realizar estimulação sensório-motora extra e intraoral.
5. Otimizar a resposta sensorial intraoral diante de condições de hipo ou hipersensibilidade intraoral.
6. Realizar manipulação da musculatura orofacial.
7. Otimizar a função labial durante a captação do utensílio alimentar e no vedamento labial durante a deglutição.
8. Otimizar o preparo e a organização oral do alimento.
9. Reduzir tempo de trânsito oral durante a deglutição,
10. Reduzir resíduos alimentares em cavidade oral após a deglutição.
11. Reduzir ou eliminar os sinais clínicos sugestivos de penetração e/ou aspiração laringotraqueal durante ou após a deglutição.
O fonoaudiólogo pode fazer uso de recursos como bandagens elásticas, eletroestimulação, laserterapia, caso exista indicação clínica para determinada técnica. No entanto, ressalta-se que essas tecnologias são recursos que só deverão ser utilizados quando integrados à terapia fonoaudiológica tradicional, não sendo empregados de forma isolada. Além disso, a terapia deve ser fundamentada no processo de desenvolvimento infantil, usando recursos lúdicos para o engajamento da criança. Ela deve ser vista com o olhar além da face e boca, considerando toda a visão integral da criança.
Atuação da Terapia Ocupacional
Além das abordagens baseadas na visão integral da família e da criança, o terapeuta ocupacional possui algumas competências exclusivas no tratamento da criança com dificuldades alimentares. Entre elas, destaca-se a abordagens relacionadas ao processamento sensorial e adaptações com o uso de tecnologia assistiva.
Processamento Sensorial
O Transtorno de Processamento Sensorial (TPS) existe quando há uma dificuldade na organização e processamento das informações sensoriais (odor, textura, sabor, entre outros), para gerar uma resposta adaptativa ao estímulo recebido (ABELENDA; ARMENDARIZ, 2020). Apesar de ser muito comum nas pessoas com transtorno do espectro do autismo (TEA), o TPS não é
exclusivo desta população. De acordo com a Teoria de Integração Sensorial de Jean Ayres (AYRES, 1972, apud ABELENDA; ARMENDARIZ, 2020), dificuldades no processamento sensorial podem resultar em dificuldades de participação nas atividades de vida diária, como a alimentação. Uma refeição é uma experiência sensorial complexa, que envolve todos os sentidos do nosso corpo. Devido a essa complexidade, pessoas com TPS frequentemente apresentam dificuldades alimentares de diferentes níveis de complexidade (ABELENDA; ARMENDARIZ, 2020).
O foco da intervenção de Integração Sensorial, poderá ser direcionado a todos os sentidos, principalmente no proprioceptivo, vestibular e tátil. Além disso, deverão ser analisados se a alteração está ligada aos processos de modulação ou discriminação sensorial.
O Transtorno de modulação sensorial é percebido quando o sistema nervoso da criança responde de forma hiper ou hiporresponsivo, aos estímulos sensoriais do dia a dia. Estas alterações sensoriais podem ser observadas como insegurança gravitacional, aversão ao movimento ou defensividade tátil. Na alimentação, deve-se estar atento às reações da criança ao ser posicionada para comer (atenção ao suporte de pés para crianças com dificuldades relacionadas ao movimento, controle adequado de tronco), e a resposta frente aos estímulos táteis que a comida oferece.
O transtorno de discriminação sensorial é percebido quando o sistema nervoso da criança é incapaz de usar os estímulos sensoriais de forma mais refinada. Pode ser observado como respostas posturais vestibulares inadequadas, discriminação tátil inadequada, processamento proprioceptivo inadequado,
visuodispraxia, respostas vestíbulo-oculares inadequadas, integração bilateral inadequada, somatodispraxia.
A abordagem utilizada irá variar de acordo com o perfil da criança atendida e a subjetividade do caso. A intervenção irá abordar os déficits identificados pelo terapeuta, durante a avaliação, em um contexto de brincadeira para fornecer desafio na medida certa e manter a criança motivada, dentro de uma faixa ótima de engajamento, favorecendo a participação ativa da criança em atividades com experiências sensoriais ricas e individualizadas (ABELENDA; ARMENDARIZ, 2020).
Tecnologia assistiva
Tecnologia assistiva (TA) são produtos e tecnologias para uso pessoal na vida diária, com fins de facilitar a mobilidade e o transporte pessoal, a comunicação, a educação, o trabalho, a cultura, as atividades recreativas e desportivas, a prática religiosa, a espiritualidade e a arquitetura. Seu uso é indicado como forma de diminuir o impacto na funcionalidade das pessoas e sua prescrição e treino depende das necessidades de cada pessoa e da avaliação do profissional capacitado (SILVEIRA; JOAQUIM; CRUZ, 2012).
Para auxiliar na alimentação existem várias opções de TA disponíveis no mercado como pratos com borda ou ventosas, talheres entortados, engrossadores, correias universais, copo com canudo, dentre vários outros tipos possíveis e personalizados. Além disso, é importante se atentar ao posicionamento correto
favorecendo um desempenho satisfatório nas atividades, além de minimizar ou eliminar complicações (GISEL et al., 2003; LARNERT; EKBERG, 1995). Abaixo alguns modelos de adaptações disponíveis:
Figura 2 - Cinto de segurança torácico.

Fonte: Espaço Quallys1
Figura 3Facilitador palmar.

Fonte: Produtos assistivos2
Figura 4 - Apoio bilateral para copos.

Fonte: Produtos assistivos3
1 https://www.espacoquallys.com.br/produto/cinto-de-seguranca-toracico-ortobras-34385. Acesso em: 03/02/2021 ² https://produtosassistivos.com.br/loja/inclusao-escolar/facilitador-palmar/. Acesso em: 03/02/2021. ³ https://produtosassistivos.com.br/loja/inclusao-escolar/apoio-bilateral-para-copos/. Acesso em: 03/02/2021
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A família, a criança e os alimentos devem ser considerados de forma integral diante de uma alteração no processo de alimentação, que pode ser uma dificuldade ou até um transtorno, com etiologias variadas. Neste contexto, a alimentação precisa ser entendida como um ato aprendido que depende de inúmeros fatores para ser realizada de forma satisfatória e saudável.
Os profissionais envolvidos devem ter uma visão além da boca e da comida, analisando questões emocionais, comportamentais, sociais e familiares. Algumas abordagens podem ser realizadas por todos os terapeutas, sendo que o fonoaudiólogo é aquele profissional que contribui com a avaliação e tratamento das posturas e funções orais, assim como o terapeuta ocupacional é aquele que trabalha com questões sensoriais, motoras, posturais globais e funcionais. A equipe interdisciplinar deve ser acionada sempre que necessário.
Ressalta-se que a intervenção precoce pode reduzir os riscos de distúrbios de alimentação por longo prazo, inclusive a rejeição de alguns ou todos os tipos de alimento ou texturas, atraso no desenvolvimento e interação familiar (ERHARDT; MERRILL, 2010). Portanto, diante de sinais de dificuldades alimentares, a criança precisa ser avaliada e conduzida juntamente com sua família, visando o pleno desenvolvimento de suas habilidades e promoção de sua saúde.
REFERÊNCIAS
ABELENDA, A. J., ARMENDARIZ, E.R. Evidencia Científica de Integración Sensorial como abordaje de Terapia Ocupacional en Autismo. Medicina, Buenos Aires, 80, p. 4146, 2020.
AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION - APA. Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5. 5.ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.
BRYANT-WAUGH, R. et al. Feeding and eating disorders in childhood. International Journal of Eating Disorders. Mar, v. 43, n. 2, p. 98-111, 2010.
ERHARDT R.P., MERRILL S.C.. Disfunção neurológica em crianças. In: Neistadt ME, Crepeau EB. Willard & Spackman: terapia ocupacional. 9ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2010.
FELICIO, C. M. et al. Protocolo de Avaliação Miofuncional Orofacial com Escores Informatizado: usabilidade e validade. CoDAS, São Paulo, v. 26, n. 4, p. 322-327, julho. 2014.
GENARO, K. F. et al. Avaliação miofuncional orofacial: protocolo MBGR. Rev. CEFAC, São Paulo, v. 11, n. 2, p. 237-255, junho, 2009.
GISEL, E. G. et al. Feeding management of children with severe cerebral palsy and eating impairment: an exploratory study. Physical & Occupational Therapy in Pediatrics, v .23, n. 2, p. 19-44, 2003.
GODAY, P. S. et al. Pediatric Feeding Disorder: Consensus Definition and Conceptual Framework. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. v. 68, n. 1, p. 124-129. jan., 2019.
HOWE, T.H.; WANG, T. N. Systematic review of interventions used in or relevant to occupational therapy for children with feeding difficulties ages birth-5 years. American Journal of Occupational Therapy. v. 67, n. 4, p. 405-412. Jul-Aug, 2013.
HUGHES, S. O. et al. Revisiting a neglected construct: parenting styles in a child-feeding context. Appetite. v. 44, n. 1, p. 83-91,2005.
ISHIGAKI, E.C.S. S.; SILVÉRIO C. C. PTF para reabilitação fonoaudiológica da disfagia em crianças maiores de um ano in Vários autores: Planos Terapêuticos
Fonoaudiológicos (PTFs):Volume 2. Barueri, SP: PróFono, 2015.
JUNQUEIRA, P, et al. O papel do fonoaudiólogo no diagnóstico e tratamento multiprofissional da criança com dificuldade alimentar: uma nova visão. Rev. CEFAC. v. 17, n. 3, p. 1004-1011. Maio-Junho, 2015.
JUNQUEIRA, P. Por que meu filho não quer comer? Uma visão além da boca. 1ª edição. São Paulo: Idea Editora, 2017.
KERZNER, B. et al. A Practical Approach to Classifying and Managing Feeding Difficulties. Pediatrics. v. 135, n. 2, p. 344–353, 2015.
KREIPE, R.E.; PALOMAKI, A. Beyond Picky Eating: Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder. Current Psychiatry Reports. v. 14, n. 4, p. 421–431, 2012.
LARNERT, G.; EKBERG, O. Positioning improves the oral and pharyngeal swallowing function in children with cerebral palsy. Acta Paediatrica. v. 84, n. 6, p. 689-692, Jun, 1995.
LEVY, D. S.; ALMEIDA, S. T. (Org.). Disfagia infantil. Rio de Janeiro: Thieme Revinter, 2018.
MADUREIRA, D. L.; SILVA, L. Avaliação clínica das disfagias infantis em ambiente hospitalar. IN: FILHO, O. L. et al. Novo tratado de fonoaudiologia. 3 ed. Barueri, SP: Manole, 2013.
MAXIMINO, P. et al. How to monitor children with feeding difficulties in a multidisciplinary scope?: Multidisciplinary care protocol for children and adolescents. Journal of Human Growth and Development. São Paulo, v. 26, n. 3, p. 331-340, 2016.
MORRIS, S. E.; KLEIN, M. D. Pre-Feeding Skills: A Comprehensive Resource for Mealtime Development. 2ª edição. Austin, TX: Pro-Ed, 2000.
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE
(OMS). CIF: Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. Trad. do Centro Colaborador da Organização Mundial da Saúde para a Família de Classificações Internacionais. São Paulo: EDUSP; 2003.
ROMMEL, N. et al. The complexity of feeding problems in 700 infants and young children presenting to a tertiary care institution. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, v. 37, p. 75–84, 2003.
SAVAGE, J. S.; FISHER. J. O.; BIRCH, L. L. Parental influence on eating behavior: conception to adolescence. The Journal of Law, Medicine & Ethics. v. 35, n. 1, p. 22–34, 2007.
SILVEIRA, A. M. : JOAQUIM, R. H. V. T.; CRUZ, D.M.C. Tecnologia assistiva para a promoção de atividades da vida diária com crianças em contexto hospitalar. Cadernos de Terapia Ocupacional. UFSCar, São Carlos, v. 20, n. 2, p. 183-190, 2012.
WEBER, L. N. D. et al. Identificação de estilos parentais: o ponto de vista dos pais e dos filhos. Psicologia: Reflexão e crítica. v.17, n.3, pp.323-331, 2004.
WORLD HEALTH ORGANIZATION. ICD-10: international statistical classification of diseases and related health problems: tenth revision, 2nd ed.World Health Organization, 2004.
EDUCAÇÃO INFANTIL: CRITÉRIOS DE
QUALIDADE QUE CONTRIBUEM
PARA O DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS
Natália Barbosa Soares da Costa
Paola R. Victoriano de Souza
Andressa Fernanda Jóia
INTRODUÇÃO
Os primeiros anos de vida são considerados uma janela de oportunidades para que a criança desenvolva seu potencial, na qual ocorrem importantes e complexas aquisições na personalidade, capacidade de aprendizado, competências emocionais e socioafetivas (BRASIL, 2018). Essas mudanças trazem desafios às crianças e às pessoas com as quais elas convivem, principalmente seus pais e cuidadores (LEDUR et al., 2019).
Há uma estreita ligação entre o desenvolvimento infantil e o meio no qual estão inseridos a criança e os cuidadores (LEDUR et al., 2019). A participação das crianças em ocupações na escola e na comunidade é essencial para que cresçam e se desenvolvam.
Por meio dela, as crianças desenvolvem habilidades, participam de atividades colaborativas com outras pessoas e aprendem a se expressar (KING et al., 2003 apud LAW et al., 2006).
O ambiente escolar, especialmente a educação infantil, é o local que as crianças pequenas frequentam e passam grande parte do tempo. De acordo com a Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal (2017), no Brasil, a creche é o ambiente no qual 33% das crianças de 0 a 3 anos passam o dia, precedida apenas pela moradia (57%). Entretanto, inicialmente a educação infantil era vista apenas com foco assistencialista, sendo compreendida, com o passar dos anos, como direito da criança e local potencializador do desenvolvimento Infantil (BRASIL, 1998; MORAES, 2009). Desta forma, entender como o ambiente da creche pode influenciar no desenvolvimento infantil e quais os critérios de qualidade da educação infantil que contribuem para este desenvolvimento são o objetivo deste estudo.
Com o objetivo de identificar quais os critérios de qualidade para a educação infantil, foi realizada pesquisa bibliográfica na Biblioteca Digital brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e nas bases de dados BIREME, utilizando as palavras-chave: “desenvolvimento infantil”, “contextos”, “educação infantil”, “crianças”, “ambiente” e “creche”. E destas palavras em inglês, “child development”, “contexts”, “child education”, “children”, “environment” e “nursery” ou “day care center”. Além disso, foram feitas buscas no Google Livros e em documentos oficiais do Ministério da Educação.
A IMPORTÂNCIA DO AMBIENTE PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL
O ambiente no qual as crianças crescem vem sofrendo alterações contínuas no decorrer dos anos. Os espaços para brincar, dentro de casa são cada vez menores, frequentemente sem a presença de quintais e com menor acesso à comunidade. O estudo da interação entre os indivíduos, o ambiente e as atividades nas quais eles se engajam, de forma a possibilitar o desempenho ocupacional, tem sido, historicamente, objeto de estudo dos terapeutas ocupacionais (ZIVIANI; RODGER, 2006).
O contexto ambiental em que a criança está inserida influencia significativamente em seu desenvolvimento. Destaque-se como principais ambientes da criança: o ambiente familiar, o ambiente educacional e a comunidade (MORAIS; CARVALHO; MAGALHÃES, 2017).
É no ambiente familiar que a criança estabelece relação com o mundo e com as outras pessoas (LOPES et al., 2009). Os pais são responsáveis por proporcionar condições de saúde, alimentação, afeto, transmitir valores educacionais e culturais aos seus filhos, além de oferecer um ambiente rico em estímulos com rotina, brincadeiras, atividades e oferta de brinquedos variados (IRWIN; SIDDIQ; HERTZMAN, 2007). Por outro lado, o contexto familiar também pode ser risco para o desenvolvimento infantil, tendo as condições socioeconômicas, baixa escolaridade dos pais, famílias numerosas, pais adolescentes, famílias chefiadas por mulheres, entre outros, como fatores de risco (PANTOJA et al., 2018).
Além da casa, estudos mostram que o ambiente escolar também influencia no desenvolvimento infantil, já que as crianças estão entrando cada vez mais cedo neste ambiente (SANTOS; SILVA, 2016). De acordo com Pacheco e Dupret (2004), as crianças chegam a passar de 4 a 12 horas diárias na creche ou pré-escola. É neste ambiente que são formadas as primeiras relações e interações fora do ambiente familiar. Sabe-se que é um ambiente que pode promover a integração entre os aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos e sociais da criança (BRASIL, 1998), que são pré-requisitos para a entrada na escola futuramente. Estudos mostram que a creche por si só não é prejudicial, nem benéfica ao desenvolvimento infantil, mas depende da interação entre fatores da creche e a família da criança (PHILLIPS; LOWENSTEIN, 2011). Atualmente, os aspectos da creche/ pré-escola que parecem ter importância e impacto no desenvolvimento infantil são a quantidade de tempo e a qualidade do ambiente ofertado para criança pequena (LOVE et al., 2003).
Uma forma de compreender o impacto do ambiente no desenvolvimento infantil é a utilização da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF). Esta classificação aponta que os fatores ambientais têm impacto sobre todos os componentes da funcionalidade humana. Estes fatores são compostos pelo ambiente físico, social e atitudinal, no qual o indivíduo está inserido. Um ambiente pode ter barreiras, que irão restringir o desempenho do indivíduo ou facilitadores, que irão potencializar seu desempenho (OMS, 2003).
A CIF demonstra uma complexa relação entre os fatores contextuais, dentre eles o ambiente, e demais aspectos relacionados à funcionalidade, como a participação e as atividades (OMS, 2003). É papel do terapeuta ocupacional contribuir para o desenvolvimento de ambientes que promovam o bem estar e a saúde de todas as crianças, de forma a permitir um desempenho ocupacional ideal (ZIVIANI; RODGER, 2006).
ENTENDENDO A EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL
As instituições de educação infantil no Brasil surgiram devido às transformações na organização familiar, na sociedade e principalmente no papel social feminino (BORGES; VASCONCELOS; SALOMÃO, 2016). O atendimento institucional prestado à criança pequena passou por várias mudanças ao longo dos anos, sendo impulsionada na última década do século XX. A maioria dessas instituições tinham o objetivo de atender às crianças de baixa
renda, com uma concepção educacional assistencialista. Mas com o passar do tempo, esta concepção passou a ser a do direito (BRASIL, 1998). Houve um consenso, entre estudiosos, de que a educação para as crianças pequenas teria o objetivo de promover a integração entre os aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos e sociais, com profissionais qualificados. Deveria ir além dos cuidados médicos e de manutenção da saúde (BRASIL, 1998). Um ambiente com o papel potencializador do desenvolvimento global infantil (MORAES, 2009).
Somente a partir da Constituição de 1988 que a Educação Infantil foi reconhecida pela primeira vez como um direito da criança, um dever do Estado e da família (BRASIL, 1988). Em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), reforça o que é dito na Constituição e acrescenta que toda criança deve ter uma educação de qualidade sociocultural e socioambiental, com propostas pedagógicas que devem considerar a criança integralmente (BRASIL, 1990). Em 1996, por meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN/1996), a Educação Infantil passa a ser considerada a primeira etapa da educação básica, sendo incorporada no sistema regular de ensino (ABRAMOWICZ; TEBET, 2017).
Vários documentos foram elaborados pelo Ministério da Educação (MEC) nos últimos anos, com o objetivo de orientar, nortear e garantir o acesso à Educação Infantil de qualidade às crianças de 0 a 5 anos (SILVA, 2018). Um deles foi o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, emitido em 1998, que visava apontar metas de qualidade que contribuam para que as crianças tenham um desenvolvimento integral de suas
identidades, levando em consideração a importância do brincar e do meio para a construção do indivíduo.
A instituição de educação infantil deve tornar acessível a todas as crianças que a frequentam, indiscriminadamente, elementos da cultura que enriquecem o seu desenvolvimento e inserção social. Cumpre um papel socializador, propiciando o desenvolvimento da identidade das crianças, por meio de aprendizagens diversificadas, realizadas em situações de interação. [...] pode-se oferecer às crianças condições para as aprendizagens que ocorrem nas brincadeiras e aquelas advindas de situações pedagógicas intencionais ou aprendizagens orientadas pelos adultos. É importante ressaltar, porém, que essas aprendizagens, de natureza diversa, ocorrem de maneira integrada no processo de desenvolvimento infantil (BRASIL, 1998, p. 23)
Após 1998, este documento passou por atualizações e novas diretrizes foram estabelecidas, mas todas com o intuito de garantir uma educação de qualidade para as crianças menores. Entre esses documentos, destaca-se os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil (BRASIL, 2006), os Indicadores da Qualidade na Educação Infantil (BRASIL, 2009) e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2010). Em conjunto com esta última, tem-se a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), pautada pelos mesmos princípios políticos, éticos e estéticos das Diretrizes Curriculares. A base define as competências, habilidades e conhecimentos que
são esperados dos estudantes no decorrer da escolaridade básica (BRASIL, 2018).
De acordo com a BNCC, as crianças que frequentam a Educação infantil têm o direito de conviver com outras crianças e adultos, conhecer e respeitar a cultura e as diferenças entre as pessoas. Além de ampliar o conhecimento de si e do outro. Têm direito a brincar de diferentes formas, em diferentes ambientes, com parceiros diferentes, tendo experiências sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. Têm o direito de participar ativamente tanto no planejamento quanto na execução das atividades da vida cotidiana, como a escolha das brincadeiras, dos ambientes e dos materiais a serem utilizados. Explorar formas, gestos, texturas, movimentos, sons, entre outros, com o objetivo de aumentar seu conhecimento e a cultura nas artes, na escrita, na ciência e na tecnologia. Têm o direito de se expressar e de se conhecer como um ser criativo, que tem suas necessidades, emoções e sentimentos, que constrói sua identidade por meio das interações, brincadeiras e suas vivências no contexto escolar, familiar e comunitário (BRASIL, 2018).
CRITÉRIOS DE QUALIDADE PARA EDUCAÇÃO
INFANTIL
O conceito de qualidade na educação infantil é muito discutido entre os autores que pesquisam sobre esta área. Sabe-se que as definições de qualidade dependem de fatores como os valores nos quais as pessoas acreditam; as tradições de uma determinada
cultura; os conhecimentos científicos sobre como as crianças aprendem e se desenvolvem; o contexto histórico, social e econômico no qual a escola se insere (BRASIL, 2009).
Para Silva (2018), a qualidade na educação infantil depende de vários fatores, que quando bem estruturados e organizados possibilitam condições satisfatórias para o desempenho da criança. Deve haver um olhar ampliado sobre o educar e o cuidar, garantindo acesso a todas as crianças, sem distinção de classe e arranjo social.
O documento Critérios para um atendimento em creches que respeite os direitos fundamentais das crianças (CAMPOS; ROSEMBERG, 2009), publicado pelo Ministério da Educação, aponta que todas as crianças têm direito: à brincadeira, à atenção individual, a um ambiente aconchegante, seguro e estimulante, ao contato com a natureza, a higiene e à saúde, a uma alimentação sadia, a desenvolver sua curiosidade, imaginação e capacidade de expressão, ao movimento em espaços amplos, direito à proteção, ao afeto e à amizade, a expressar seus sentimentos, a uma especial atenção durante seu período de adaptação à creche, a desenvolver sua identidade cultural, racial e religiosa. Além de políticas e programas que garantam o acesso a uma educação infantil de qualidade.
O ambiente da educação infantil deve ser amplo, variado, de fácil acesso e ter sua função identificada facilmente pelas crianças (ZABALZA, 1998). Também é apontada a importância da qualidade e quantidade de equipamentos, materiais e do espaço destinado às crianças, além das medidas básicas de saúde,
A equipe de funcionários das instituições também é fator determinante para a qualidade da educação infantil. A formação e rotatividade dos profissionais, a proporção de crianças por adulto, os aspectos das condições de trabalho da equipe e as características das relações entre os adultos e crianças são fatores apontados como relevantes (CEGLOWSKI, 2004; KATZ, 1993).
Ao longo do dia, a criança deve ter momentos nos quais possa decidir o que deseja fazer, combinados com momentos de trabalhos dirigidos, de forma a favorecer a autonomia e a iniciativa (ZABALZA, 1998). Deve-se promover um ambiente no qual a criança sinta-se bem vinda, aceita, compreendida, protegida e tenha a sensação de pertencimento. Deve ser tratada com seriedade e respeito, considerando a diversidade cultural e se sentir segura, através da criação de oportunidades de expressão das emoções (KATZ, 1993; CEGLOWSKI, 2004).
As atividades apresentadas devem ser envolventes, desafiadoras e significativas; as experiências interessantes e satisfatórias (KATZ, 1993). Precisam ser diferenciadas, de forma a abordar todas as dimensões do desenvolvimento e todas as capacidades individuais. Há a necessidade de utilização de uma linguagem enriquecida, que permita à criança utilizar todo seu repertório e superar suas estruturas prévias (ZABALZA, 1998).
É de suma importância a abertura à participação dos responsáveis na educação infantil e uma boa comunicação (ZABALZA, 1998; CEGLOWSKI, 2004). A relação equipe/ responsáveis deve
100 higiene e segurança das instalações e equipamentos (KATZ, 1993; CEGLOWSKI, 2004).
ser respeitosa, acolhedora, aberta, inclusiva e tolerante, além de atender aos objetivos e valores das famílias envolvidas. É necessário um contato constante com a família, fazendo com que ela se sinta confortável e bem-vinda (KATZ, 1993; CEGLOWSKI, 2004).
A avaliação das instituições de educação infantil e dos programas aplicados por elas é essencial. Bem como o monitoramento dos ambientes físicos e o impacto deste no desenvolvimento infantil (GALLAGER; CLIFFORD, 2000).
Dentre os estudos encontrados, alguns (CARVALHO; PEREIRA, 2008; ZUCOLOTO, 2011; LIMA, BHERING, 2006) utilizaram instrumentos padronizados para avaliação da qualidade do ambiente na educação infantil. Foram citados o Infant/ Toddler Environment Rating Scale – Revised Edition (ITERS-R) e o Early Childhood Environment Rating Scale – Revised Edition (ECERS-R). As duas avaliações apresentam estruturas parecidas.
O ITERS-R é um instrumento que avalia o ambiente de instituições infantis, abrangendo o público de 0 a 30 meses. É composto por 39 itens, divididos em sete subescalas, sendo elas: “espaço e mobiliário”, “rotinas de cuidado pessoal”, “falar e compreender”, “atividades”, “interação”, “estrutura do programa” e “pais e equipe” (ZUCOLOTO, 2011). E a ECERS-R é indicada para a avaliação dos ambientes educacionais coletivos para crianças de 30 a 60 meses. A escala consiste em 43 itens (CARVALHO; PEREIRA, 2008).
Cada item destes instrumentos apresenta um número variado de indicadores de qualidade. Cada indicador deve ser marcado, considerando a sua presença ou ausência no ambiente de cuidado
e educação infantil. Os itens são pontuados de 1 a 7, sendo (1) inadequado, (3) mínimo, (5) bom e (7) excelente. Pontuações intermediárias (2, 4 e 6) podem ser atribuídas quando estão presentes todas as condições da pontuação inferior e pelo menos metade da pontuação superior (CARVALHO; PEREIRA, 2008).
Apesar de serem instrumentos utilizados mundialmente (CARVALHO, 2020; SOUZA; CAMPOS-DE-CARVALHO, 2005), não foram encontrados estudos de tradução oficial e validação para uso no Brasil. Popp (2015) aponta que não há traduções oficiais dos instrumentos, somente as realizadas por autores para uso em suas pesquisas. Oliveira et al. (2003), em estudo, optaram pelo uso da ITERS-R e ECERS-R, devido à ausência de instrumentos brasileiros para avaliação da qualidade da educação infantil. Utilizaram adaptações da tradução da ITERS-R para pesquisa no Brasil (OLIVEIRA, 2000) e da ECERS-R para Portugal (BAIRRÃO, 1997).
Em 2020 foram publicadas, em Português, a versão 3 das escalas, nomeadas como ITERS-3 (Escala de Avaliação de Ambientes de Educação Infantil - crianças de 0 a 3 anos) e ECERS-3 (Escala de Avaliação de Ambientes de Educação Infantil - crianças de 3 a 5 anos). A tradução foi realizada em pesquisa pela Fundação Carlos Chagas e ocorreu entre os anos de 2017 e 2020 (FCC). Entretanto, não foram encontradas pesquisas publicadas que utilizassem essas versões dos instrumentos.
4.1 A QUALIDADE DO ATENDIMENTO EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL
Os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação
Infantil têm como objetivo “[...] estabelecer uma referência nacional a ser discutida e utilizada pelos sistemas de ensino na definição de padrões de qualidade locais para as instituições de Educação Infantil” (BRASIL, 2006, p. 31). O documento detalha as características que devem ser apresentadas pelas instituições de educação infantil com relação às propostas pedagógicas, à gestão, à formação de professores e demais profissionais, às interações dos profissionais e à infraestrutura.
Um estudo realizado pela Fundação Carlos Chagas, em parceria com Ministério da Educação e Banco Interamericano de Desenvolvimento (CAMPOS et al., 2010), avaliou 150 estabelecimentos de educação infantil em seis capitais brasileiras (Belém, Fortaleza, Teresina, Campo Grande, Rio de Janeiro e Florianópolis). Foram utilizadas as escalas ITERS-R e ECERS-R, que apontaram um nível de qualidade básico no conjunto total de cidades, sendo que, analisadas individualmente, Rio de Janeiro e Florianópolis apresentaram nível básico e as demais capitais nível de qualidade inadequado. As subescalas “Atividades” e “Rotinas de cuidado pessoal” foram as que apresentaram as médias mais baixas, consideradas como nível de qualidade inadequado. Em “Espaço e mobiliário”, “Falar e compreender”,”Estrutura do programa” e “Pais e equipe”, o nível de qualidade foi considerado básico. A subescala “Interação” foi a única que atingiu o nível de qualidade adequado. Os níveis de qualidade bom e
excelente não foram atingidos nas médias gerais.
Zucoloto (2011), em estudo realizado em uma creche da rede pública do município de São Paulo, com uso da escala ITERS-R, identificou que, na parte relacionada ao Espaço e mobiliário, a instituição apresentou desempenho satisfatório nos itens Espaço interno, Organização da sala e Mobiliário para brincadeiras e cuidados de rotina. Entretanto, o ambiente apresentava qualidade próxima do mínimo necessário nas Provisões para relaxamento e conforto e materiais expostos para as crianças.
Na subescala Rotinas de cuidado pessoal, os itens Chegada / Partida, Refeições e lanches e Soneca foram considerados com bom nível de qualidade. Em contrapartida, a segurança, o cuidado corporal e práticas de saúde oferecem o mínimo de qualidade. Na subescala Ouvindo e Falando, o item Usando livros apresentou pontuação próxima do excelente. Porém, nos itens que se relacionam com as interações, a qualidade encontra-se próxima do considerado mínimo. A subescala Atividades apresentou pontuação considerada excelente no item Brincadeiras de Faz de Conta.
Em Motora fina, Atividade física, Arte e Blocos foi obtida boa pontuação. Os demais itens foram avaliados como próximo do mínimo necessário (ZUCOLOTO, 2011).
No mesmo estudo, na subescala Interação, a avaliação apontou um nível bom de qualidade. Entretanto os itens Interação equipe-criança e Disciplina alcançaram um nível mínimo de qualidade. A subescala Estrutura do programa foi a que apresentou maior comprometimento no nível de qualidade. Os itens Programação e Atividade em Grupo foram pontuados como
qualidade inadequada. O item Brincadeira livre pontuou como mínima qualidade. Na subescala Pais e equipe, apenas o item Provisões para necessidades profissionais da equipe apresentou pontuação mínima, ficando os demais itens entre bom e excelente. Deve-se destacar que a creche selecionada é objeto constante de estudos pela comunidade acadêmica (ZUCOLOTO, 2011).
No estudo de Carvalho e Pereira (2008), com 16 turmas de crianças com faixa etária de 4 a 68 meses, utilizando as escalas ITERS-R e ECERS-R, teve como resultado um padrão de qualidade entre inadequada e minimamente adequada, sendo que nenhum ambiente obteve classificação insuficiente ou chegou a ser classificado como bom. Houve diferença na pontuação entre os ambientes das turmas das crianças de até 3 anos e das crianças maiores. Com melhores resultados no ambiente das crianças menores.
Lima e Bhering (2006) pesquisaram sobre as condições ambientais de cinco centros de educação infantil do Sul do Brasil, por meio da escala ITERS-R. Concluíram que quatro instituições, as públicas, apresentaram nível de qualidade satisfatório. E uma (privada, de caráter filantrópico), apresentou nível baixo de qualidade, devido ao maior número de crianças atendidas por turma.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os primeiros anos de vida são fundamentais para o desenvolvimento de todo o potencial dos indivíduos, sendo considerados uma janela de oportunidades. O ambiente, conforme aponta a
CIF, pode ser uma barreira ou um facilitador, influenciando nas aquisições de habilidades. Torna-se, portanto, essencial a identificação dos fatores de risco e a promoção do ambiente escolar como um espaço potencializador do desenvolvimento infantil.
Autores internacionais, nacionais e documentos publicados pelo Governo Federal apontam os critérios para uma educação infantil de qualidade. Estes critérios incluem fatores ambientais, pedagógicos, organizacionais, relacionados aos profissionais e à participação da família. Além de reforçarem a importância de que nesta etapa da educação básica, as crianças devem ter acesso a brincadeiras e atividades pertinentes à faixa etária, sem exigir habilidades que não são esperadas para as crianças de 0 a 3 anos.
Considerando a importância do ambiente educacional para o desenvolvimento infantil, são necessários novos estudos, com populações maiores e uso de instrumentos validados no Brasil, de forma a fornecer parâmetros que proporcionem constante melhora da qualidade na educação infantil.
REFERÊNCIAS
ABRAMOWICZ, Anete; TEBET, Gabriela Guarnieri de Campos. Educação Infantil: um balanço a partir do campo das diferenças. Pro-Posições, v.28, suppl.1, p.182-203, 2017.
BAIRRÃO, Joaquim. Escala de avaliação do ambiente de educação infantil. Versão provisória para investigação. Portugal: Universidade de Lisboa, 1997.
BORGES, Lucivanda Cavalcante; VASCONCELOS, Dalila Castelliano de; SALOMÃO, Nádia Maria Ribeiro. Educação infantil em contexto não urbano: um estudo com educadoras. Psico (Porto Alegre), v.47 n.3, 2016
BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, DF, 2018.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 1988
BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasília, DF, 1990.
BRASIL. Indicadores da Qualidade na Educação
Infantil / Ministério da Educação/Secretaria da Educação Básica – Brasília: MEC/SEB, 64 p. 2009.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Guia para orientar ações intersetoriais na primeira infância. Brasília, DF: MS, 2018.
BRASIL. Ministério da Educação − MEC; Secretaria de Educação Básica. Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil. Brasília, 2006.
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial curricular nacional para a educação infantil. Brasília, 1998.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Brasília, 2010.
CAMPOS, Maria Malta; ROSEMBERG, Fúlvia. Critérios para um atendimento em creches que respeite os direitos fundamentais das crianças. 6.ed. Brasília: MEC, SEB, 2009. 44.
CAMPOS, Maria Malta. et al. Educação Infantil no Brasil – avaliação quantitativa e qualitativa. Relatório Final. Fundação Carlos Chagas, nov. 2010.
CARVALHO, Alysson Massote; PEREIRA, Arlete Santana. Qualidade em Ambientes de um Programa de Educação Infantil Pública. Psicologia: Teoria e Pesquisa. v. 24 n. 3, p. 269-277, 2008.
CARVALHO, Ana Maria. A avaliação de ambientes institucionais para crianças pequenas: critérios para a qualidade na educação infantil. Dissertação (Mestrado)Universidade Estadual Paulista (UNESP), 104p., Bauru, 2020.
CEGLOWSKI, Deborah. How Stake Holder Groups Define Quality in Child Care. Early Childhood Education Journal. V. 32, n. 2, p. 101-111, 2004.
FCC - FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS. Projeto de tradução da ITERS-3, ECERS-3 E SSTWB. FCC. São Paulo/SP. Disponível em: <https://www.fcc.org.br/fcc/fccpesquisa/projeto-de-traducao-da-iters-3-ecers-3-e-sstwb>. Acesso em: 29 dez. 2020.
FUNDAÇÃO MARIA CECÍLIA SOUTO VIDIGAL.
Primeiríssima Infância – Creche: necessidades e interesses de famílias e crianças. São Paulo: FMCSV, 2017.
GALLAGER, James.; CLIFFORD, Richard. The Missing support infrastructure in early childhood. Early Childhood Research & Practice, v. 2, n. 1, 2000.
IRWIN, Lori; SIDDIQI, Arjumand; HERTZMAN, Clyde. The equalizing power of early child development: from the commission on social determinants of health to action. Child Health and Education; v. 1, n. 3, p. 146-161, 2007.
KATZ, Lilian G. Five perspectives on quality in early childhood programs. S.l.: ERC, 1993.
LAW, Mary; PETRENCHIK, Terry; ZIVIANI, Jenny; KING, Gillian. Participation of children in school and community. In: RODGER, Sylvia; ZIVIANI, Jenny. Occupational therapy with children: understanding children's occupations and enabling participation. Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 2006. Cap. 4. p. 67-90.
LEDUR, Carolina Sarzi; ZANATTA, Edinara; PEREIRA, Caroline Rubin Rossato; ARPINI, Dorian Mônica; MACARI, Maria Lucia; ROCHA, Patrícia Jovasque. O desenvolvimento infantil aos dois anos: conhecendo as habilidades de crianças atendidas em um programa de saúde materno-infantil. Psicol. rev. (Belo Horizonte) v.25, n.1, 2019.
LIMA, Ana Beatriz Rocha; BHERING, Eliana. Um estudo sobre creches como ambiente de desenvolvimento. Cadernos de Pesquisa, v. 36, n. 129, p. 573-596, set./dez. 2006.
LOPES, Rita de Cássia Sobreira., VIVIAN, Aline Groff., OLIVEIRA, Débora; Silva, Carla; PICCININI, Cesar Augusto; TUDGE, Jonathan. "Quando eles crescem, eles voam": percepções e sentimentos maternos frente ao desenvolvimento infantil aos 18-20 meses. Psicologia em Estudo, v. 14, n. 2, 2009.
LOVE, John M; HARRISON, Linda; SAGI-SCHWARTZ, Abraham; IJZENDOORN, Marinus; ROSS, Christine;
UNGERER, Judy A; RAIKES, Helen; BRADY-SMITH, Christy; BOLLER, Kimberly; BROOKS-GUNN, Jeanne; CONSTANTINE, Jill; KISKER, Ellen; PAULSELL, Diane; CHAZAN-COHEN, Rachel. Child Care quality matters: how conclusions may vary with context. Child Development; v.74, n.4, p. 1021–1033, 2003.
MORAES, Fabiana Aparecida de. A mediação pedagógica como elemento potencializador dos processos de aprendizagem e desenvolvimento infantis. Dissertação (mestrado). 116 p. Universidade Federal de São Carlos, SP. 2009.
MORAIS, Rosane Luzia de Souza; CARVALHO, Alysson Massote; MAGALHÃES, Lívia de Castro. A Influência do Contexto Ambiental no Desenvolvimento de Crianças na Primeira Infância. Revista Vozes dos Vales – UFVJM; v.11; ano VI, mai., 2017.
OLIVEIRA, Mariana Almeida de. Avaliação de ambientes coletivos para crianças pequenas. Monografia de Conclusão do Programa Especial de Bacharelado da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2000.
OLIVEIRA, Mariana Almeida de; FURTADO, Rosângela de Assis; SOUZA, Tatiana Noronha.; CAMPOS-DECARVALHO, Maria Ignez. Avaliação de ambientes educacionais infantis. Paidéia (Ribeirão Preto), Ribeirão Preto, v. 13, n. 25, p. 41-58, Jun 2003.
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE.; ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE. CIF: Classificação
Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. São Paulo: EDUSP, 2003. 325p.
PACHECO, Ana Lucia Paes de Barros; DUPRET, Leila. Creche: desenvolvimento ou sobrevivência?. Psicol. USP, São Paulo, v. 15, n. 3, p. 103-116, 2004.
PANTOJA, Ana Paula Pureza; SOUZA, Givago Silva; NUNES, Erica Feio Carneiro, PONTES, Lucieny da Silva. Análise do efeito dos fatores ambientais sobre o desenvolvimento neuropsicomotor de crianças em comunidade amazônica. Journal of Human Growth and Development. V. 28, n. 3, p. 232-239, 2018.
PHILLIPS, Deborah A; LOWENSTEIN, Amy E. Early Care, Education, and Child Development. Annu Rev Psychol; v. 62, p. 483–500, 2011.
POPP, Bárbara. Qualidade da educação infantil: é possível medi-la?. 2015. Tese (Doutorado em Educação)Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.
SANTOS, Sandro Vinicius Sales, SILVA, Isabel de Oliveira. Crianças na educação infantil: a escola como lugar de experiência social. Educ. Pesqui., São Paulo, v. 42, n. 1, p. 131-150, jan./mar. 2016.
SILVA, José Carlos. A Qualidade das práticas educativas em uma creche do município de Santo André. Programa de Mestrado em Gestão de Práticas Educacionais. Universidade Nove de Julho (UNINOVE),111 p. São Paulo, 2018
SOUZA Tatiana Noronha de; CAMPOS-DE-CARVALHO, Mara. Qualidade de ambientes de creches: uma escala de avaliação. Psicologia em Estudo, Maringá, v. 10, n. 1, p. 87-96, jan./abr. 2005
ZABALZA, Miguel Ángel. Qualidade em Educação
Infantil. Porto Alegre: Artmed, 1988.
ZIVIANI, Jenny; RODGER, Sylvia. Environmental influences on children’s participation. In: RODGER, Sylvia; ZIVIANI, Jenny. Occupational therapy with children: understanding children's occupations and enabling participation. Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 2006. Cap. 3. p. 41-66.
ZUCOLOTO, Karla Aparecida. Educação infantil em creches - uma experiência com a escala ITERS-R. 2011. Tese (Doutorado em Educação) - Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.
6.
USO DE TECNOLOGIAS E DESENVOLVIMENTO INFANTIL: DIZERES DA LITERATURA
Jacqueline Aparecida Borges Vieira
Pâmella Mansoldo Caixeta
Andressa Fernanda Jóia
INTRODUÇÃO
As tecnologias de informação e comunicação têm se desenvolvido e avançado de forma rápida e, consequentemente, mudam os cenários em que vivemos e as formas de interagir, relacionar e realizar as atividades do dia a dia (SIMÃO, 2019).
Diante deste novo cenário, e considerando a afirmação de Monteiro e Osório (2015, p. 36) de que “a interação entre crianças e tecnologias está ainda investida de grandes esperanças e receios”, foi realizada uma revisão de literatura com o intuito de compreender como o acesso a equipamentos de tecnologia de informação e comunicação está impactando no dia a dia e desenvolvimento de crianças. Este entendimento faz-se necessário especialmente para que famílias, escolas e profissionais de diferentes áreas possam compreender possíveis consequências deste novo modo de viver e os impactos nas diferentes áreas do desenvolvimento.
REFERENCIAL TEÓRICO
O processo de desenvolvimento humano é contínuo, inicia-se na concepção, cessa com a morte e ao longo da vida recebe influências biológicas e do meio no qual o ser está inserido. Os fatores relacionados ao contexto de vida do indivíduo, entre eles, alimentação, moradia, sono, tipo e tempo de brincadeiras, podem favorecer de forma negativa ou positiva o seu processo de desenvolvimento (GALLAHUE; OZMUN; GOODWAY, 2013).
O desenvolvimento do bebê e da criança pequena está diretamente relacionado aos fatores orgânicos, herdados geneticamente, e ambientais, referente ao meio no qual está inserido. Estes fatores são interdependentes e faz-se necessário um ambiente que possa atender as demandas do crescimento e desenvolvimento da criança e, assim, potencializar as habilidades através de experiências que sejam estimulantes e significativas (FUNDAÇÃO MARIA CECÍLIA SOUTO VIDIGAL, 2013).
Dentro destes fatores ambientais encontra-se o brincar que favorece o desenvolvimento de diferentes habilidades que vão desde a construção de funções superiores à formação de processos psicológicos essenciais para o desenvolvimento infantil (CARVALHO et al., 2009).
Os jogos tradicionais infantis têm, conforme Friedmann (1996), grande importância durante o processo de desenvolvimento e oferecem possibilidades valiosas para o estímulo de diferentes atividades e desenvolvimento de habilidades, entre elas, motoras, sensoriais, afetivas, intelectuais e linguísticas.
As novas diretrizes da Organização Mundial de Saúde (OMS) citadas pela Organização Pan Americana da Saúde (2019), afirmam que, para que as crianças cresçam de forma saudável necessitam dormir melhor e ter mais tempo para brincar ativamente, devem ficar menos tempo contidas em carrinhos de bebê ou sentadas assistindo a telas.
No entanto, as crianças do século XXI nasceram em uma época na qual a tecnologia é base das relações sociais e as atividades desenvolvidas pelas crianças, seja falar com amigos, estudar
e fazer uso do tempo livre, estão cada dia mais dependentes de recursos tecnológicos. As brincadeiras tradicionais tais como pega-pega, amarelinha, bicicletas, já não são mais as favoritas das crianças, os brinquedos tradicionais estão se tornando obsoletos e as crianças cada vez mais cedo têm contato com dispositivos eletrônicos (MONTEIRO; OSÓRIO, 2015; PAIVA; COSTA, 2015).
CAMINHO METODOLÓGICO
A fim de identificar as consequências do uso da tecnologia no desenvolvimento infantil, inicialmente foi realizada busca no Banco de Teses e Dissertações da CAPES, utilizando as palavras-chaves “telas”, “tecnologia” e “infância”, estes descritores foram utilizados na língua portuguesa, entretanto, a busca não foi efetiva e satisfatória quanto ao número de estudos encontrados que tratavam especificamente sobre o tema escolhido. Em seguida foi realizada uma busca na plataforma Scielo, com uso das palavras-chave já mencionadas, porém o resultado também não foi satisfatório. Sendo assim, as palavras-chaves foram usadas no Google Scholar, e selecionados artigos e estudos que serão exibidos e tratados na próxima sessão. Para compor esta revisão, foram escolhidos estudos realizados entre os anos de 2010 e 2020. Para a seleção do material bibliográfico foram realizados os seguintes passos: leitura do título e, posteriormente, dos resumos, a partir desta foram excluídos aqueles que não estavam de acordo com os objetivos deste trabalho.
Como critérios de inclusão, foram utilizados somente artigos que tratavam de tecnologia e a utilização durante a infância. Foram selecionados para compor a análise seis artigos que estão apresentados no Quadro 1, seguido de uma breve descrição sobre os mesmos.
Quadro 1 - Artigos selecionados
Título
Desenvolvimento psicossocial de crianças de 9 a 12 anos que usam videogames
Exposição à televisão e atraso na linguagem primária em crianças menores de 5 anos de idade
Autores
Alvarez-Antezana, Lourdes; Cano-Centi, Rocío; Damiano-Llanos, Cynthia
Ano Público Objetivo
2011 Crianças entre 9 e 12 anos
Abuso de consumo de produtos tecnológicos em idade precoce: um problema não abordado nos estudos médicos
Dra. C. Ileana Valdivia Álvarez; Dra. Elizabeth Gárate Sánchez; Dra. Norma Regal Cabrera; Dra. Gladys Castillo Izquierdo; Dra. Zenaida María Sáez
Yurianely Machado
Machado; Omar Cruz Martín; Delia María Santiesteban Pineda; Claudia Cruz Lorenzo; Yaritza García Ortiz; Sibelys Akela Paz Gonzalez.
2014 Entre 18 meses e 5 anos
Descrever o desenvolvimento psicossocial de crianças de 9 a 12 anos que usam videogame.
Avaliar a exposição à televisão como fator de risco para o desenvolvimento da linguagem em crianças
2017 Crianças menores de 03 anos
Mostrar a necessidade de incluir a repercussão do abuso do consumo de produtos tecnológicos no desenvolvimento de crianças em idade precoce, como um problema de saúde nos estudos médicos.
Título Autores Ano Público Objetivo
A utilização de mídias interativas por crianças na primeira infância: um estudo epidemiológico
Sabrina da Conceição Guedesa; Rosane Luzia de Souza Moraisa; Lívia Rodrigues Santos; Hércules Ribeiro Leite; Juliana N. Pontes Nobre; Juliana N. Santosa.
2019 Crianças de 02 a 04 anos
Descrever a prevalência do uso de mídias interativas (tablets e smartphones) por crianças de 02 a 04 anos de idade, assim como caracterizar esse uso, investigar hábitos, práticas, participação e opinião dos pais acerca da sua utilização.
Mídias de telas e testes de atenção: uso desempenho em crianças de 6 a 8 anos
Tecnologias no desenvolvimento neuropsicomotor em escolares de quatro a seis anos
Murilo Henrique Mendes França
2019 Crianças de 6 a 8 anos.
Karina Finka; Tainá Ribas Mélo; Vera Lúcia Israel.
2019 Crianças de 04 a 06 anos
Investigar a relação entre o tempo de uso de mídias de telas e o desempenho em testes de atenção.
Verificar a influência da tecnologia no desenvolvimento neuropsicomotor de crianças de quatro a seis anos de idade em uma escola particular.
Em seu estudo descritivo e transversal, Alvarez-Antezana, Cano-Centi e Damiano-Llanos (2011) tiveram como objetivo descrever o desenvolvimento psicossocial de 156 crianças com idade entre 9 e 12 anos, residentes na cidade de Lima, Peru. Para
avaliação dos dados foi aplicado um questionário estruturado sobre videogames e outro questionário de desenvolvimento psicossocial. Após a análise dos dados não foi encontrada uma relação entre o uso de vídeo games e o desenvolvimento psicossocial irregular das crianças investigadas.
Com o intuito de avaliar a exposição à televisão e o atraso de linguagem em crianças com idade entre 18 meses e 5 anos, Álvarez et al. (2014) realizou um estudo com 45 crianças residentes de uma cidade cubana que buscaram atendimento especializado em um hospital infantil e os comparou com outras 45 crianças sem queixas relacionadas aos marcos do desenvolvimento, estes grupos foram formados após exclusão daquelas crianças com diagnósticos que poderiam causar atraso de linguagem. Todas as crianças participantes eram expostas à televisão diariamente sendo que, entre as crianças do grupo de estudo, a maioria (68,9%) permaneciam 7 horas ou mais em frente a esta, enquanto no grupo controle nenhuma das crianças era exposta por este período e a maioria dos participantes ficavam por até 2 horas. Quanto ao início da exposição, 68,8% das crianças o grupo de estudo iniciou a exposição à televisão antes dos 11 meses e no grupo de controle este índice foi de 17,8%.
Os autores concluem que a exposição aos meios audiovisuais se mostrou como um fator de risco para atraso de linguagem em menores de 5 anos. Estes chamam atenção para o tempo de exposição das crianças já que, durante este período, diminuem a interação com os pais, o uso de jogos e sobre os efeitos das trocas rápidas de luz e cor que podem ter algum impacto sobre o cérebro em desenvolvimento e, ainda, quanto a importância dos
fatores ambientais para o adequado desenvolvimento da linguagem (ÁLVAREZ et al., 2014).
Machado et al. (2017) realizaram um estudo para investigar como o abuso de produtos tecnológicos repercutiu no desenvolvimento de crianças com idade entre 30 e 36 meses e abordaram a necessidade de se incluir o impacto negativo do abuso destes como um problema de saúde durante a formação de profissionais médicos. Participaram deste estudo 167 mães de crianças e todas elas afirmaram que seus filhos estavam expostos a produtos de tecnologias de informação, comunicação e/ou televisão.
Grande parte das crianças deste estudo (35,3%) foram expostas pela primeira vez entre os 6 e 12 meses, sendo que o tempo médio diário de exposição para 48,5% era de 1 a 2 horas, no entanto, 2,4% ou seja, 4 crianças permanecem com estes produtos tecnológicos por 6 horas ou mais.
Um número considerável das mães participantes (47,9%) acreditam que o tempo ideal de exposição das crianças varia entre 1 e 2 horas e que esta não oferece risco ao desenvolvimento infantil.
Quanto ao impacto causado, 34,7% das crianças foram afetadas negativamente, em diferentes graus, por esta exposição, o que representa 1/3 dos participantes e dentre os sintomas foram citados ansiedade, problemas no sono, agressividade, atraso de linguagem, dificuldades para cumprir ordens, entre outros e estas foram encaminhadas para diferentes serviços especializados a fim de receberem o acompanhamento adequado (MACHADO et al., 2017).
O estudo realizado por Machado et al. (2017) chama atenção para o número reduzido de mães que buscam serviços de ajuda para as crianças, já que a maioria dos sintomas são leves. Além disso, os autores reforçam a importância de se incluir durante a formação médica, temas referentes aos efeitos dos produtos tecnológicos no desenvolvimento infantil, para que as famílias sejam informadas e orientadas de maneira precoce sobre potenciais riscos.
Guedes et al. (2020) em seu estudo realizado em um pequeno município brasileiro, objetivaram fazer uma descrição do uso de tecnologia por crianças de 24 a 47 meses de idade. Foi realizado um estudo transversal no qual participaram 244 pais ou responsáveis, estes responderam a um questionário sobre os hábitos de uso dessa tecnologia e investigação do nível social que a criança se enquadra. O smartphone e o tablet foram a tecnologia mais utilizada por esse público. O estudo apontou que cerca de 86,4% dos pais tendem a limitar o tempo de uso, 75,2% fazem o acompanhamento durante a utilização e 58,4% acreditam que a utilização de tecnologia ajuda no desenvolvimento da criança. Ainda foi observado que a prevalência do uso é de 67,2%, com tempo médio de utilização de 69,2 minutos por dia. O estudo não traz informações sobre os impactos causados pelo uso destes.
França (2019), em sua dissertação de mestrado, investigou a relação entre o desempenho de crianças com idade de 6 a 8 anos em testes de atenção e o tempo de uso de mídias de telas. A escolha deste tema baseou-se em questionamentos pré-existentes sobre a relação existente entre prejuízos nos níveis de atenção e uso de mídias de tela.
As crianças participantes do estudo, 73 no total, são provenientes de escolas particulares do município de Goiânia, Brasil, foram excluídas aquelas que fazem uso de Ritalina, ou que apresentassem indicativo da presença de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. O autor utilizou questionários para entender sobre aspectos demográficos, hábitos específicos e hábitos relacionados ao uso de tecnologia pelas crianças, além dos Testes dos Cinco Dígitos (FDT) e Bateria Psicológica para Avaliação da Atenção (BPA) específicos para a proposta.
Ao final, França (2019) concluiu que as crianças utilizam mídias de telas de forma cada vez mais precoces e que o uso é difundido, não encontrando relação entre o tempo de uso e o desempenho atencional nas crianças estudadas. O autor sugeriu novos estudos com medidas mais precisas para mensurar o tempo de uso destas mídias pelas crianças e estudos com crianças mais novas que considerem o tipo de conteúdo aos quais são expostos.
Fink, Melo e Israel (2019), realizaram um estudo quase experimental transversal com 23 crianças com idade entre quatro e seis anos de idade, o qual teve o objetivo de verificar como a tecnologia pode influenciar no desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM), o estudo foi dividido em duas partes, em uma foi aplicado um questionário aos pais para avaliar o tempo que as crianças ficavam expostas à tecnologia e em outro momento foi realizada a aplicação da Escala de Desenvolvimento de Denver II. Os pais responderam ao questionário sem saber o resultado de seu filho na Escala de Desenvolvimento de Denver II. O uso demasiado da tecnologia foi confirmado no estudo, uma vez que 78,3% dos pais responderam que seus filhos têm acesso a smartphones ou
tablets. Após a análise dos dados da Escala Denver, foi observado que 100% das crianças com 04 anos de idade apresentaram algum tipo de atraso, sendo essa faixa etária a mais afetada. Nas idades de 05 e 06 anos a porcentagem das crianças que apresentaram atraso foi de 27,% e 16,6%, respectivamente. Após o cruzamento de dados da Escala Denver II e do questionário, foi possível concluir que, esse atraso de desenvolvimento neuropsicomotor não foi influenciado de forma direta pelo uso tecnologia, e isso porque de acordo com a respostas dos pais esse uso é mediado e existe um controle do tempo de uso.
Os dados divulgados pelos trabalhos realizados por AlvarezAntezana, Cano-Centi e Damiano-Llanos (2011), França (2019) e Fink, Melo e Israel (2019) apesar de não apresentarem claramente o risco do uso das telas para o desenvolvimento infantil, conforme afirma a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP, 2016), trazem importantes observações sobre o tempo de exposição, os efeitos causados pela precocidade da exposição, bem como relações entre o uso de telas e sinais de ansiedade, problemas no sono, agressividade, atraso de linguagem, dificuldades para cumprir ordens.
Os resultados apresentados por Álvarez et al. (2014) e Machado et al. (2017) corroboram a preocupação de entidades como a OMS (2019) e SBP (2016) que demonstram preocupação quanto ao impacto do uso de produtos de tecnologia de informação e comunicação por crianças pequenas.
Conforme estas entidades, o uso destes dispositivos altera a forma como a criança utiliza o seu tempo gerando inércia já que, comumente, são deixados de lado hábitos saudáveis e isso diminui
vivências motora, cognitiva e social (OMS, 2019; SBP, 2016).
Guedes et al. (2020) não apresentou dados quanto ao impacto causado pelo uso de equipamentos eletrônicos, no entanto, os dados reforçam a presença destes no dia a dia da crianças assim como corrobora parte das informações apresentadas por Ortiz et al. (2015) quando estes alertam para a escassez de conhecimento dos pais acerca dos riscos que o consumo destas tecnologias pode trazer, a valorização do uso destes em contrapartida ao aumento do uso destes pelas crianças.
A relação entre o tempo de uso e os efeitos causados às crianças além da idade de início é algo que tem preocupado profissionais que atuam diretamente no desenvolvimento infantil. A Sociedade Brasileira de Pediatria (2016) afirma que o uso contínuo e de forma precoce afeta, entre outras coisas, a socialização, gera problemas de comportamento e ansiedade, estes dados são reforçados pelo trabalho realizado por Álvarez et al. (2014), no qual fica claro o quanto o tempo de exposição afeta o desenvolvimento das crianças. É sugerido um tempo de uso adequado, respeitando idades, com o intuito de minimizar os danos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os estudos selecionados para compor esta revisão não são unânimes quanto às consequências negativas que o uso de equipamentos de tecnologia e informação podem trazer para o desenvolvimento infantil. No entanto, todos mostram o quanto estas são presentes no dia a dia das crianças, o que tem sido uma
preocupação de diferentes entidades no Brasil e no mundo, entre elas, a Sociedade Brasileira de Pediatria e a OMS, que têm confeccionado cartilhas e diretrizes com o intuito de orientar quanto ao uso e abuso destes.
Uma vez que a tendência é surgirem cada vez mais recursos tecnológicos e que estes se tornem cada dia mais atrativos, é essencial que o uso seja intermediado por um adulto e que este compreenda a importância do ambiente e da exploração deste para o desenvolvimento infantil estimulando assim a interação e exploração ativa da criança.
São necessárias novas pesquisas na área, abordando os diferentes aspectos do desenvolvimento infantil para compreender de forma mais abrangente esta relação com a tecnologia assim como a disseminação da informação para pais e profissionais de diferentes áreas que atuam com crianças.
REFERÊNCIAS
ALVAREZ, C. et al. Exposición a televisión e retardo primario del lenguage em menores de 5 años. Revista Cubana de Pediatria, v.86, n.1, p. 18-25, 2014.
ALVAREZ-Antezana, Lourdes; CANO-Centi, Rocío; DAMIANO-Llanos, Cynthia. Desarrollo psicosocial de niños de 9 a 12 años que utilizan videojuegos. Rev. enferm. herediana; Peru, v. 4, n. 1: p. 7-11, ene.-jun. 2011.
CARVALHO, A. et. al. Brincar(es). Belo Horizonte: UFMG, 2009.
FINK, Karina; MELO, Tainá Ribas; ISRAEL, Vera Lúcia. Tecnologias no desenvolvimento neuropsicomotor em escolares de quatro a seis anos. Cad. Bras. Ter. Ocup., São Carlos , v. 27, n. 2, p. 270-278, June, 2019.
FRANÇA, Murilo. Mídias de tela e testes de atenção: uso e desempenho em crianças de 6 a 8 anos. Goiânia, 2019.
FRIEDMANN, A. Brincar, crescer e aprender: o resgate do jogo infantil. São Paulo: Moderna, 1996.
FUNDAÇÃO MARIA CECÍLIA SOUTO VIDIGAL. Nota 10
Primeira Infância. Rio de Janeiro, 2013. Disponível em: https://www.fmcsv.org.br/pt-BR/o-que-fazemos/sensibilizar-asociedade/nota10-primeira-infancia/?s=nota,primeira. Acesso em: 20 nov. 2020.
GALLAHUE, David L.; OZMUN, John C.; GOODWAY, Jacqueline D. Compreendendo o Desenvolvimento
Motor: bebês, crianças, adolescentes e adultos. Porto Alegre: AMGH, 2013.
GUEDES, Sabrina da Conceição et al. A UTILIZAÇÃO DE MÍDIAS INTERATIVAS POR CRIANÇAS NA PRIMEIRA
INFÂNCIA - UM ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO. Rev. paul. pediatr., São Paulo, v. 38, e2018165, 2020 .
MACHADO, Y et al. Abuso de consumo de productos tecnológicos en edades tempranas: problemática no abordada en estudios médicos. Edumecentro, v. 9, n.3, p. 155-170, 2017.
MONTEIRO, A. F.; OSÓRIO, A. J. Novas Tecnologias, riscos e oportunidades na perspectiva das crianças. Revista Portuguesa de Educação, v.28, n.1, p. 35-57, 2015.
ORGANIZAÇÃO PANANAMERICANA DA SAÚDE. Para crescerem saudáveis, crianças precisam passar menos tempo sentadas e mais tempo brincando. Disponível em: https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content& view=article&id=5919:para-crescerem-saudaveis-criancasprecisam-passar-menos-tempo-sentadas-e-mais-tempobrincando&Itemid=839#:~:text=25%20de%20abril%20de%20 2019,Mundial%20da%20Sa%C3%BAde%20(OMS). Acesso em: 20 nov. 2020.
ORTIZ, Y et al. Utilidad e riesgo em el consumo de nuevos tecnologías en edad temprana, desde la perspectiva de los padres. Humanidades Médicas, v.28 n.1, p. 88-106, 2015.
PAIVA, N. M. N; COSTA, J. S. A influência da tecnologia na infância: desenvolvimento ou ameaça? Psicologia – O portal dos psicólogos, 2015.
SIMÃO, D. O uso dos aparelhos eletrônicos de telas e a construção das estruturas lógicas elementares e infralógicas de causalidades. Campinas, 2019.
SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA.
Saúde de Crianças e Adolescentes na Era Digital –manual de orientação. n. 1, Brasília, outubro/2016. Disponível em: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_ upload/2016/11/19166d-MOrient-Saude-Crian-e-Adolesc.pdf. Acesso em: 20 nov. 2020.
7. CONSIDERAÇÕES
SOBRE USO DA TESOURA
Tassianny Sousa Amorim
Luísa Alexandre Licursi
Alessandra Cavalcanti
INTRODUÇÃO
Em contextos de atenção a crianças, é frequente encontrar uma tesoura junto aos materiais selecionados para atividades e brincadeiras relacionados a processos de intervenção para desenvolvimento da função manual. O tipo escolar é o modelo mais comum disponibilizado para ser explorado ou experimentado como um novo objeto, manuseado para desenvolver novas habilidades ou usado funcionalmente para cortar.
No entanto, embora o uso da tesoura seja de conhecimento de todos os profissionais que atuam na intervenção precoce e no desenvolvimento infantil, o assunto ainda é pouco abordado e estudado, principalmente entre os terapeutas ocupacionais da atualidade. Questões envolvendo quais os modelos de tesoura que existem no mercado, quais são os padrões de preensão esperados para o uso da tesoura ou qual é o tipo mais adequado para determinada etapa do desenvolvimento que a criança se encontra, são ainda lacunas nas diversas publicações encontradas na área.
O uso com destreza de uma tesoura para cortar, requer refinamento de habilidades da criança e possui impacto importante em outras áreas de sua vida adulta. Portanto, o terapeuta ocupacional, além de avaliar quais são as habilidades e características da criança, deve também saber sobre habilidades manuais, tipos de preensão para segurar uma tesoura e conhecer o maior número de modelos, convencionais ou adaptados, disponíveis no mercado.
Este conjunto de reflexões e informações sobre o desenvolvimento das habilidades manuais, tipos de preensão para uso da
tesoura visando identificar qual a criança utiliza, estratégias para melhorar a habilidade de usar a tesoura em programas de intervenção e considerações sobre a variabilidade de modelos existentes serão abordados neste capítulo.
HABILIDADES MANUAIS
O uso das mãos durante atividades proporcionando a interação com o ambiente, conferindo o contato com diversos objetos ou permitindo o desempenho de ocupações específicas depende de uma complexa interação entre habilidades motoras e habilidades de processo (EXNER, 2001; AOTA, 2020). Para um adequado desenvolvimento das habilidades manuais, uma criança deve apresentar habilidades combinadas (ou conjuntas) de posicionamento do corpo, função somatossensorial, percepção visual e desenvolvimento cognitivo (EXNER, 2001).
Com o nascimento, a criança passa a interagir e a responder a estímulos do contexto que está inserida (PAPALIA et al., 2013).
Essa interação permite que ela aprenda sobre seu corpo, descubra posturas, se movimente cada vez mais e se relacione com um repertório de objetos que incentivarão novas descobertas em um ciclo crescente de aprendizado e de desenvolvimento (REBELO et al., 2019).
As habilidades manuais são uma sequência de seis padrões de movimento do membro superior que são tipicamente dependentes da combinação de informação tátil-proprioceptiva com a visual. Os padrões são alcançar, agarrar, carregar, soltar, manipular
e uso bimanual (EXNER, 2001). Ocorrem nos primeiros meses de vida de um bebê e são didaticamente descritos para subsidiar o processo de avaliação e acompanhamento do desenvolvimento infantil.
O alcançar é definido a partir da estabilização proximal do membro superior e do movimento do ombro com o propósito de favorecer o contato da mão com um objeto (EXNER, 2001). Esse padrão de movimento tem início por volta dos 2-4 meses de idade (MULLIGAN, 2014), quando o bebê na posição supino, movimenta os membros superiores em direção a um objeto em um padrão de comportamento repetitivo, ainda de forma incoordenada. Concomitante, a criança também realiza um olhar direcionado para a mão-objeto desenvolvendo a percepção de distância entre eles. Esta habilidade instiga o movimento dos braços até a linha média do seu corpo (MEYERHOF, 1994; GALLAHUE et al., 2013). De 4 a 8 meses, o alcance torna-se habilidade voluntária (MULLIGAN, 2014). Por volta dos 6-8 meses, quando o bebê se senta de forma independente, com total extensão do tronco, as mãos estão livres para alcançar objetos e o seu repertório para a conquista de novas aquisições aumenta (MEYERHOF, 1994; GALLAHUE et al., 2013).
A preensão (agarrar) é entendida como a habilidade de segurar intencionalmente um objeto com uma das mãos (EXNER, 2001). Entre 0-2 meses de idade o bebê tem o reflexo de preensão palmar. Com as mãos geralmente fechadas, a preensão palmar acontece com qualquer estímulo dado na palma de sua mão. No período seguinte, com 2-4 meses, ele ainda é incapaz de agarrar objetos pois o reflexo de preensão palmar está acentuado. Dos 4-8
meses de idade, esse reflexo tende a diminuir frente a estímulos e o bebê consegue iniciar a preensão de alguns objetos, como um bloco pequeno. O agarre ocorre por preensão palmar ulnar, seguido pela preensão radial e depois pela preensão palmar associada ao movimento de extensão do punho (MULLIGAN, 2014). Estas experiências proporcionam vivências táteis e proprioceptivas, e o bebê tem a oportunidade de desenvolver gradativamente a preensão voluntária interagindo com o objeto desejado (MEYERHOF, 1994). Por volta de 8-12 meses de idade, o reflexo de preensão palmar desaparece. O polegar participa do agarre e o bebê é capaz de realizar pinça fina para pegar pequenos objetos. Por volta de 1-2 anos, a criança tem habilidade para agarrar objetos de forma consistente, desempenhando uma preensão (agarrar) similar à de um adulto (GALLAHUE et al., 2013).
O carregar (manter) é uma habilidade que depende do objetivo da atividade e da estabilização proximal do braço. Caracteriza-se como o movimento do membro superior (braço e mão) no espaço com a intenção de transportar um objeto em uma das mãos de um lugar para outro (EXNER, 2001). Um bebê com 4-8 meses de idade alcança, segura com certa consistência e é capaz de carregar um objeto até sua boca. Aos 8-12 meses de idade existe uma preferência por lançar, bater e jogar objetos. Por volta de 1-2 anos, a predileção está nos encaixes de formas e em grandes quebra-cabeças. Pode manter um lápis na mão e rabiscar, usar uma colher com pouca acurácia, mas ainda se diverte batendo e derrubando objetos. É habilidoso para alcançar, agarrar, carregar e empilhar de 4 a 7 blocos (MULLIGAN, 2014). Nos anos que se seguem esta habilidade de manter o objeto na mão torna-se mais refinada.
O soltar é uma habilidade complexa que consiste no ato intencional de liberar (soltar, depositar ou jogar) um objeto que estava seguro em uma das mãos, em um lugar em um tempo específico (BRANDÃO, 1984). De 0 a 7-8 meses de idade, o bebê não sabe soltar. Os objetos são liberados de sua mão, isto é, caem, devido a alteração de tônus da musculatura flexora dos dedos que é influenciada pelo interesse de agarrar outro objeto. Depende do controle dos movimentos dos braços para posicionar precisamente quando a mão liberará o objeto. Esta habilidade é verificada ainda com pouca coordenação entre 8-12 meses de idade, quando o bebê brinca jogando, lançando e batendo objetos. Com 1-2 anos, o soltar voluntário é eficiente para depositar uma bola pequena em um frasco com abertura estreita (MULLIGAN, 2014). Esta habilidade continua sendo refinada ao longo da infância e por volta dos 6 anos de idade o soltar é consistente à habilidade de soltar de um adulto (BRANDÃO, 1984).
A manipulação consiste no ajuste do objeto dentro da mão, após a preensão (agarre), para uso funcional (EXNER, 2001). Até os 8-12 meses de idade, um bebê não tem habilidades de manipulação. Por volta de 1-2 anos a criança inicia a manipulação de objetos e pode ter a capacidade de executar movimentos independentes dos dedos para mover os objetos. Dos 2-3 anos de idade a manipulação se desenvolve e a criança consegue; por exemplo, a habilidade de translocar um objeto da palma para os dedos sem ajuda da outra mão (MULLIGAN, 2014). A habilidade para manipular é refinada à medida que a criança desempenha atividades funcionais e experiencia ações usando diferentes instrumentos (talher, lápis, caneta, pincel, tesoura, dentre tantos outros).
A utilização das duas mãos em conjunto para executar e/ou completar uma atividade é a habilidade de uso bilateral (EXNER, 2001). O uso bilateral das mãos pode ocorrer simultaneamente e simetricamente ou pode uma mão assistir/estabilizar enquanto a outra manipula (ERHARDT; SAVA, 2008). Apesar de o bebê, aos 2-4 meses, com frequência manter suas mãos entrelaçadas, é por volta de 4-8 meses que ele consegue, ainda com pobre controle motor, segurar um objeto largo (por exemplo, a mamadeira) com ambas as mãos ou consegue transferir objetos de uma mão para a outra. Aos 1-2 anos de idade tem a habilidade de carregar algo usando as duas mãos. É capaz de bater palmas, e de estabilizar um objeto com uma das mãos enquanto a outra manipula (por exemplo, segura brinquedo com uma e encaixa forma com a outra, estabiliza o livro com uma e passa página com a outra) (MULLIGAN, 2014). Aos 2-3 anos ensaia cortes ao picar papel usando uma tesoura, e para isso, precisa estabilizar o papel com uma mão enquanto, ainda sem sucesso, tenta usar a tesoura com a outra (BRANDÃO, 1984).
Para o desenvolvimento dessas habilidades manuais, Exner (2001) destaca que habilidade visual e somatossensorial, integração sensorial, habilidade percepto-visual, fatores sociais e culturais, assim como integridade das funções e estruturas da mão, incluindo amplitude de movimento, força e tônus são extremamente importantes para a compreensão do desenvolvimento da função manual.
Quando há uma alteração na condição de saúde da criança e qualquer um desses aspectos é afetado, mudanças significativas no curso do desenvolvimento poderão ser verificadas. Desta
forma, a inclusão da criança em um programa de intervenção precoce, é fortemente indicado com vistas a favorecer seu desenvolvimento, a prevenção de complicações e apoio aos pais (NOVAK; MORGAN, 2019).
HABILIDADE PARA USO DA TESOURA
Manejar funcionalmente uma tesoura é uma atividade complexa e requer que a criança tenha adquirido as habilidades manuais para alcançar, agarrar, carregar, soltar, manipular objetos e fazer uso bimanual das mãos. De acordo com Erhardt e Sava (2008), para usar a tesoura de forma eficaz, é necessário destreza manual e preferência pelo uso de uma das mãos, habilidade para movimentos unilaterais/bimanuais, coordenação visomotora e incentivo para experimentar a ferramenta.
O uso da tesoura é considerado uma atividade que demanda destreza bimanual pois a criança utiliza a mão dominante (a de preferência) para cortar e a mão contralateral para segurar, estabilizar e virar o papel que será cortado (ERHARDT; SAVA, 2008). Para usar uma tesoura de forma típica, uma criança precisa ser capaz de abrir e fechar os dedos, usar a mão bimanualmente, movimentar em conjunto ou isoladamente o polegar, indicador, dedo médio e demais dedos; assim como conjuntamente coordenar função visomotora com o movimento do membro superior (SERRANO; LUQUE, 2019).
Brandão (1984), na clássica obra sobre o desenvolvimento da mão, disserta que a preensão para segurar uma tesoura é
experimentada por volta dos 2 anos de idade. Aos 3 anos, ainda sem êxito, a criança tenta usar funcionalmente o objeto e corta o papel picando-o ou rasgando-o com a ferramenta (MULLIGAN, 2014; SERRANO; LUQUE, 2019). É comum observar crianças entre 2 e 3 anos de idade abrindo e fechando a tesoura com as duas mãos e por vezes, esta mesma criança é capaz de estabilizar com uma mão o papel e com a outra, realizar preensão adequada, para fazer um pequeno corte (‘pic’) em uma parte do papel. A criança não consegue ainda utilizar a ferramenta em um movimento constante para a frente e cortar formas (CANCHILD, 2013).
Entre os 3 e 4 anos de idade é possível observar o uso da tesoura assertivamente em linha reta e sem qualquer exatidão quando existem linhas curvas e/ou cantos/bordas. Mas a criança já é capaz de ajustar o papel com a outra mão, que o estabiliza e o segura, devido ao desenvolvimento da habilidade bimanual (CANCHILD, 2013).
Somente aos 4 anos é esperado que a criança consiga manipular a tesoura eficazmente e recortar formas grandes (MULLIGAN, 2014). Portanto, entre 4-5 anos de idade desenvolve uma precisão para cortar linhas curvas e formas geométricas (círculo, quadrado e triângulo) mantendo a habilidade para ajustar o papel na mão que o segura (CANCHILD, 2013).
Entre os 5 e 6 anos de idade apresenta preensão madura para usar a tesoura e habilidade precisa, com a outra mão, para segurar e virar o papel enquanto o corta. O recortar é suave, respeita a exatidão das formas, não possui irregularidades. Formas,
figuras simples e desenhos complexos são fáceis de serem recortados (CANCHILD, 2013).
Aos 7-10 anos de idade já é capaz de cortar formas delicadas e pequenas (MULLIGAN, 2014). Essa especialização no uso da ferramenta é acompanhada pela experimentação crescente dos inúmeros materiais que estão presentes nas atividades que se envolvem ao longo de um dia. A criança pode ter um repertório amplo de experiências devido ao seu engajamento em atividades de artesanato, ao tocar instrumentos musicais, nas tarefas características da escola, ao vestir e despir roupas e calçados, na preparação de refeições e ao alimentar-se, no autocuidado ou em outras atividades do seu dia a dia, por exemplo.
Schneck e Battaglia (1992) propuseram um guia para auxiliar na compreensão do desenvolvimento da preensão manual ao usar uma tesoura. Os autores sistematizaram seis tipos de preensão para usar a tesoura, em uma sequência de padrões de movimento entre polegar e dedos. O Quadro 1 ilustra o guia.
Assim, por volta dos 4-5 anos de idade espera-se que a criança segure uma tesoura com aprimoramento da preensão. Nesta mesma época, uma criança tem habilidade para desempenhar a preensão trípode dinâmica. Sendo assim, o polegar e o dedo médio devem estar posicionados cada um em uma alça da tesoura, e o indicador, apoiado por fora da alça, estabilizando o movimento, enquanto os demais dedos ficam fletidos na palma da mão (Quadro 1, preensão 6).
Embora essa seja a forma esperada de preensão para usar uma tesoura, não é a preensão verificada como sendo a mais utilizada
pela maioria dos adultos. Frequentemente é possível identificar pessoas segurando a tesoura com o polegar e o indicador em cada uma das alças e demais dedos em flexão na palma da mão. No entanto, este tipo de preensão de tesoura pode ser atribuído a uma provável alteração no processo de aquisição das habilidades manuais, que pode envolver alguma limitação no desenvolvimento da função manual ou restrição de participação em atividades manuais, ricas na experimentação de materiais e ferramentas, ainda na infância (MYERS, 2006).
Para Serrano e Luque (2019), a sequência para o desenvolvimento da habilidade de usar a tesoura inicia com o despertar do interesse da criança pela ferramenta, para a atividade de cortar, acompanhado do desenvolvimento das habilidades motoras, percepto-cognitivas e sensoriais para segurar a tesoura, passando pela experimentação de diferentes modelos da ferramenta até a maturação das habilidades para manejar adequadamente, abrindo e fechando o objeto. As autoras sugerem, quando identificado atraso na habilidade, uma intervenção que englobe atividades manuais para cortar pequenos pedaços de papel, na sequência atividades que demandem corte de uma folha até o meio, depois cortes em linha reta por inteiro da folha até a criança conseguir estar em atividades que demandem cortar formas diversas com precisão. Estas atividades devem evoluir em complexidade e favorecer o desenvolvimento da habilidade para uso da tesoura.
1
Quadro 1 - Desenvolvimento da preensão para uso da tesoura.
A primeira preensão, tem o polegar posicionado em uma alça da tesoura, dedo indicador na outra alça, e demais dedos estendidos.

2
3
A terceira preensão tem o polegar posicionado em uma alça da tesoura, dedo indicador e médio na outra alça, estando demais dedos estendidos.

4
A segunda preensão, na hierarquia do desenvolvimento, é similar à primeira, mas com os demais dedos fletidos.

5
A quinta preensão, o polegar é posicionado em uma alça da tesoura, dedo médio na outra alça, demais dedos estendidos, e o indicador estabiliza a tesoura.

6
A quarta preensão, é similar à terceira, com os demais dedos fletidos.

Na sexta preensão, o polegar é posicionado em uma alça da tesoura, dedo médio na outra alça, demais dedos fletidos, e o indicador estabiliza a tesoura.
Fonte: Adaptado de Schneck e Battaglia, 1992.

Myers (2006), sugere um repertório de atividades com os seguintes passos: (a) apresentar tiras de papel à criança para que ela possa aleatoriamente cortar e aprender a posição de pegar a tesoura; (b) apresentar linhas desenhadas no papel para treinar o corte em linha reta, modificando sequencialmente a largura dessas linhas, aumentando assim a dificuldade para o cortar; (c) apresentar desenhos de formas retas e depois formas arredondadas para treinar o corte.
Em um outro clássico sobre o tema, Dunn (1999) apresenta uma sequência de estratégias para trabalhar o desenvolvimento da habilidade de usar a tesoura. A autora sugere: (a) disponibilizar diferentes tipos de tesoura (atenção deve ser dada aos modelos que possuem lâminas) para exploração e experimentação da ferramenta e incentivar o interesse da criança pelo objeto; (b) orientar a criança a segurar e manipular a tesoura de forma adequada; (c) habituar a criança para abrir e fechar a tesoura; (d) treinar o corte aleatório em linha reta em pedaços de papel; (e) praticar o uso da tesoura em movimentos para frente; (f) experimentar usar a tesoura em cortes laterais; (g) cortar em linha reta e sequencialmente; (h) aprender cortar formas geométricas simples (círculo, quadrado e triângulo); (i) cortar figuras simples; (j) cortar figuras complexas e (k) cortar materiais diferentes de papel (tecido, isopor, massinha, plástico, canudinho, entre outros).
MODELOS DE TESOURAS
Existem vários tipos de tesouras que podem ser adquiridas conforme a necessidade de cada criança e de acordo com suas habilidades para manuseio (SERRANO; LUQUE, 2019). Atualmente no mercado é possível encontrar uma grande variedade de modelos de tesouras, adaptadas ou não, que podem adequar-se à habilidade e ao tipo de preensão de cada criança. Existem tesouras para canhotos, tesouras com alças com design circular, tesouras sem lâmina de corte (mas que cortam), tesouras com guia que possibilitam o treino do cortar em linha reta e em movimento para frente, tesouras com alças duplas e que permitem o encaixe dos dedos em diferentes formas, e ainda tesouras de diferentes tamanhos.
Desta forma, o terapeuta ocupacional tem a sua disponibilidade uma série de opções para ajustar a demanda observada em seu processo de avaliação. É possível selecionar tesouras para cada faixa etária do desenvolvimento da criança. Por exemplo, a tesoura plástica, de ponta arredondada, sem lâmina e com as alças iguais e de design circular (Figura 1) são recomendadas para crianças entre 1,5 e 2,5 anos de idade, pois permitem a experimentação da ferramenta com segurança (LOPEZ, 1986). Já um modelo de tesoura plástica, com lâmina, sem pontas e com alças em design elíptico (Figura 2) é indicado para crianças entre 4 e 5 anos. Quando selecionadas para uso por crianças entre 3 e 4 anos de idade, este modelo de tesoura permite a vivência dos diferentes tipos de preensão, com alternância no posicionamento do polegar, indicador, dedo médio e demais dedos (MYERS, 2006).
Figura 1 - Tesoura plástica, de ponta arredondada, sem lâmina e com o mesmo design das alças, indicada para crianças de 1,5 a 2,5 anos de idade.

Fonte: Autores, 2018.
Figura 2 - Tesoura escolar, com lâmina, sem pontas e com design diferente das alças, indicada para crianças entre 4 e 5 anos de idade.

Fonte: Autores, 2018.
Figura 3 - Ilustração da patente brasileira da tesoura adaptada para deficientes visuais.
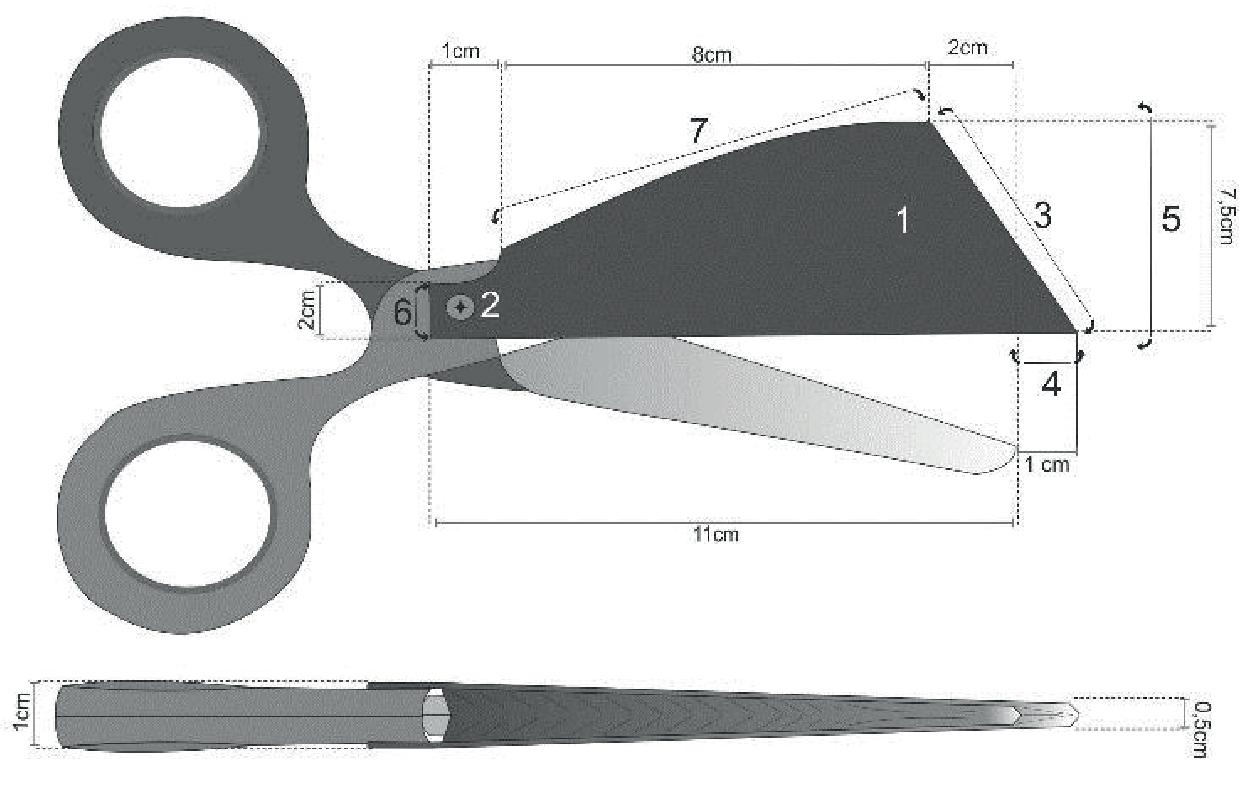
Fonte: BR 202017012514-4 U2, 2018.
Alguns autores, como Benbow (2006) e Myers (2006) destacam que existe uma importância na seleção do tipo da tesoura para favorecer o padrão correto de uso da ferramenta. Assim, a criança, por meio de material adequado, pode desenvolver suas habilidades com precisão. Os autores esclarecem que embora novos modelos de tesouras são desenvolvidos, há de se ter cuidado com a aquisição de modelos que podem limitar a mobilidade dos dedos, induzindo a uma preensão inadequada e incorreta da tesoura. O terapeuta ocupacional deve ser criterioso no processo de escolha, indicação ou oferta da tesoura para a criança. Pois para além desta atividade – uso da tesoura, as limitações dos movimentos dos dedos podem indiretamente impactar no desenvolvimento de outras atividades motoras finas como a escrita.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O uso da tesoura de forma eficaz depende do desenvolvimento das habilidades manuais para alcançar, agarrar, carregar, soltar, manipular e uso bimanual. Para uma criança fazer uso funcional de uma tesoura é necessário que ela experimente diferentes tipos de preensão, que seguem uma sequência de desenvolvimento assim como ocorre com as habilidades manuais. Por meio de vivências e interações com o meio, a habilidade de usar a tesoura tende a aprimorar conforme a criança vai se desenvolvendo. Sabe-se que existem diferentes tipos de tesouras, e que essa variabilidade de design e modelos influenciam diretamente no processo de aprendizado, desenvolvimento e desempenho na forma como a criança utiliza essa ferramenta.
Assim, quando uma criança apresenta dificuldades para uso da tesoura ou atrasos nesse aspecto do desenvolvimento infantil, faz-se necessário a intervenção precoce de um terapeuta ocupacional com conhecimento sobre habilidades manuais, preensão para uso da tesoura e tipos de tesoura. Com base nestas informações, o profissional pode desenvolver estratégias e atividades para o treino de uso da tesoura, bem como intervir precocemente para favorecer o desenvolvimento das habilidades alteradas.
REFERÊNCIAS
AMERICAN OCCUPATIONAL THERAPY ASSOCIATION (AOTA). Occupational Therapy Practice Framework: Domain and Process (4th ed.). The American Journal of Occupational Therapy. [s.l], v. 74, suppl.2, p. 1-87, aug. 2020.
BENBOW, M.. Principles And Practices of Teaching Handwriting. In: HENDERSON, A.; PEHOSKI, C.. Hand function in the child: foundations for remediation. 2.ed. Philadelphia: Mosby, 2006. p. 319-342.
BRANDÃO, S. Desenvolvimento psicomotor da mão. Rio de Janeiro: Enelivros Editora e Livraria, 1984.
CANCHILD. Centre for Childhood Disability Research. Partnering for change team. Scissor activities and the JK/SK student – Lunch & learn. McMaster University, 2013. Disponível em: https://www.canchild.ca/system/ tenon/assets/attachments/000/000/597/original/dcd_scissor_ skills_2013.pdf. Acesso em: 20 dez. 2020.
DUNN, M. L. Pre-scissor skills: skill starters for motor development. 3.ed. [s.l]: Communication Skills Builders, 1999.
ERHARDT, R. P.; SAVA, D. I.. Scissors skills and hand preference: a pilot study. Journal of Occupational Therapy, Schools, & Early Intervention, London, v. 1, n. 3, p. 215-230, mar. 2008.
EXNER, C. E. Development of hand skills. In: CASE-SMITH J. Occupational Therapy for children. 4.ed. St. Louis: Mosby, 2001. p. 289-328.
GALLAHUE, D. L.; et al. Compreendendo o desenvolvimento motor: bebês, crianças, adolescentes e adultos. 7. ed. Porto Alegre: Agmh, 2013.
LOPEZ, M. Development sequence of the skill of cutting with scissors in normal children 2 to 6 years old. Unpublished Master’s thesis, Boston University. Descrito por: SCHNECK, C.; BATTAGLIA, C. Developing scissors skills in young children. p. 79-89. In: CASE-SMITH, j.; PEHOSKI, C. Development of hand skills in the child. Rockville: AOTA, 1992.
MEYERHOF, P. G. O Desenvolvimento normal da preensão. Revista Brasileira do Crescimento e Desenvolvimento Humano, São Paulo, v. 2, [s.n], p. 25-29, 1994.
MULLIGAN, S. Occupational Therapy evaluation for children. 2. ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2014.
MYERS, C. A.. A fine motor program for preschoolers. In: HENDERSON, A.; PEHOSKI, C.. Hand function in the child: foundations for remediation. 2. ed. Philadelphia: Mosby, 2006. p. 267-289.
NOVAK, I.; MORGAN, C. High-risk follow-up: early intervention and rehabilitation. In: VRIES, L. S.; GLASS, H. C. Handbook of clinical neurology. Neonatal neurology. 2019. p. 483-510.
PAPALIA, D. E.; et al. Desenvolvimento humano. 12. ed. Porto Alegre: AMGH., 2013.
REBELO, M.; et al. Desenvolvimento motor da criança: relação entre habilidades motoras globais, habilidades motoras finas e idade. Cuadernos de Psicologia del Deporte, Portugal, v. 20, n. 1, p. 75-85, nov. 2019.
SALES, A. J. R.; et al. Tesoura adaptada para o uso dos deficientes visuais. Depositante: Serviço nacional de aprendizagem industrial - Departamento regional de Pernambuco. BR 202017012514-4 U2. Depósito: 12 jun. 2017. Concessão: 26 dez. 2018. Disponível em: https://gru. inpi.gov.br/pePI/servlet/PatenteServletController. Acesso em: 17 mar. 2020.
SERRANO, P.; LUQUE, C. A criança e a motricidade fina: desenvolvimento, problemas e estratégias. 2. ed. Lisboa: Papa-Letras, 2019.
SCHNECK, C.; BATTAGLIA, C. Developing scissors skills in Young children. In: CASE-SMITH, J.; PEHOSKI, C.
Development of hand skills in the child. Rockville, MD: AOTA, 1992. p. 79-89.
A UTILIZAÇÃO DA ABORDAGEM DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL DE AYRES® NO TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA
Camila Gonçalves Albuquerque
Déborah Gonçalves Furtado
Raquel Pinheiro
INTRODUÇÃO
O Transtorno do Espectro Autista (TEA) resulta de uma alteração precoce no desenvolvimento cerebral e da reorganização neural, caracterizado por alterações na comunicação social e comportamentos sensório-motores restritos e repetitivos (APA, 2014). Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM V), da Associação Americana de Psiquiatria (APA), o indivíduo, para ser diagnosticado com TEA, deve apresentar evidências de dificuldades passadas ou presentes, nos três subdomínios da comunicação social: déficits expressivos na comunicação não verbal e verbal usadas na interação social; falta de reciprocidade socioemocional; incapacidade para desenvolver, manter e compreender relacionamentos. Também deve ter ou ter tido dificuldade em dois ou quatro comportamentos restritos, restritivos ou incomuns, como: comportamentos motores ou verbais estereotipados; excessiva adesão a rotinas e padrões ritualizados de comportamento; interesses restritos, fixos e intensos; alterações sensoriais (APA, 2014). Em relação às alterações sensoriais, destaca-se a hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais ou interesse incomum por aspectos sensoriais do ambiente, acarretando uma resposta não adaptativa e déficit no desempenho de atividades cotidianas, inclusive sociais e educacionais (APA, 2014).
De acordo com Kilroy, Aziz-Zadeh e Cermak (2019), o processamento sensorial engloba percepção, organização e interpretação das informações recebidas pelos sistemas sensoriais (paladar, tato, olfato, visão, auditivo, vestibular e propriocepção) para produzir uma resposta adaptativa. Indivíduos com TEA
têm dificuldade em algum ou vários processos relacionados às informações sensoriais. Dessa forma, elas podem ter alterações em registrar, modular e/ou discriminar as entradas sensoriais, apresentando, por exemplo, hiper ou hiporeatividade a estímulos sensoriais e baixa motivação para se engajar em atividades intencionais.
Segundo Ayres (1972), a Integração Sensorial (IS) caracteriza-se como o processo neurológico que organiza as informações sensoriais recebidas do próprio corpo e do ambiente externo, de forma a promover a exploração adequada do corpo no ambiente. Em contraste, ainda de acordo com Ayres (1972), a Disfunção de Integração Sensorial é uma desordem na qual a informação sensorial não é integrada ou organizada adequadamente no cérebro, podendo produzir vários graus de alterações no desenvolvimento, no processamento da informação, no comportamento e na aprendizagem. A práxis, capacidade de idealizar, planejar e executar as ações, também pode estar comprometida (SCHOEN et al., 2019).
Dessa forma, uma das abordagens utilizadas na intervenção junto à criança com TEA é a Terapia de Integração Sensorial de Ayres®, a qual tem evidenciado bons resultados na prática clínica. Esta tem como foco melhorar o processamento sensorial, aumentando a participação nas atividades diárias e participação social, ampliar o repertório de brincadeiras e diminuição de comportamentos repetitivos e/ou estereotipados, diminuir o desconforto da pessoa em situações de desregulação (POSAR; VISCONT, 2018).
Randell (2019) relata que as alterações sensoriais no TEA podem afetar o comportamento destas crianças nas atividades de
alimentação, vestuário, higiene pessoal, brincar, atividades escolares, participação social dentre outras, se fazendo necessárias estratégias sensoriais para melhorar o desempenho ocupacional. Dessa forma, essa intervenção torna-se essencial, sob orientação, delineamento e supervisão de terapeutas ocupacionais, principalmente com a qualificação aprofundada no tema.
Com base no exposto, este capítulo tem como objetivo verificar a eficácia da Terapia de Integração Sensorial de Ayres® nas intervenções de crianças com TEA por meio de uma revisão da literatura dos últimos 10 anos. As bases de dados de pesquisa consultadas durante o período de 2010-2020 foram o Periódico da Capes, na qual se realizou buscas por meio das palavras-chave “autismo” e “integração sensorial”. No Scielo e PubMed, foram feitas buscas com as palavras-chave “sensory integration”, “autism” e “sensory processing”. Como critérios de inclusão foram considerados artigos em português, inglês e espanhol. Como critérios de exclusão, foram excluídos os artigos que não fossem direcionados ao público infantil.
APRESENTAÇÃO GERAL DOS ARTIGOS
Com base na pesquisa realizada, foram selecionados 6 (seis) artigos para o tema. Estes se encontram detalhados no quadro 1, a seguir.
Quadro 1: Apresentação dos artigos selecionados.
Autores Título do artigo Objetivo Metodologia
PFEIFFER et al. (2011)
Effectiveness of Sensory Integration Interventions in Children With Autism Spectrum Disorders: A Pilot Study
Estabelecer um modelo de pesquisa com ensaios clínicos randomizados, identificar medidas de resultados apropriadas e abordar a questão da eficácia das intervenções de integração sensorial em crianças com TEA.
37 alunos com TEA entre 6 e 12 anos, participaram do estudo. Estes foram aleatoriamente designados para um grupo de tratamento motor fino e de Integração Sensorial. Pré-testes e póstestes mediram a capacidade de resposta social, processamento sensorial, habilidades motoras funcionais e fatores socioemocionais.
SCHAAF, BENEVIDE, MAILLOUX (2013)
An Intervention for Sensory Difficulties in Children with Autism: A Randomized Trial
Avaliar a eficácia da Terapia de Integração Sensorial segundo um protocolo manual sobre o alcance de metas individuais em comparação com os cuidados usuais. Avaliar o impacto dessa abordagem nos comportamentos sensoriais, adaptativos e habilidades funcionais das crianças.
Participaram 32 crianças de 4 a 8 anos, com diagnóstico de autismo, nível cognitivo não verbal > 65 e com dificuldade para processar e integrar informações sensoriais. Foram divididos aleatoriamente em 2 grupos (tratamento e controle). As crianças do grupo de tratamento receberam intervenção 3 vezes por semana durante 10 semanas, além dos tratamentos habituais.
Autores Título do artigo Objetivo Metodologia
IWANAGA et al. (2014)
Pilot Study: Efficacy of Sensory Integration
Therapy for Japanese Children with HighFunctioning
Autism Spectrum Disorder
Investigar a eficácia da Terapia de Integração
Sensorial em crianças com TEA nas áreas da cognição, habilidades verbais e sensório-motoras.
Os indivíduos foram selecionados de acordo com os quesitos estabelecidos. Participaram 20 crianças divididas em dois grupos: Terapia de Integração Sensorial (SIT) e terapia em grupo (TG), sendo que ambos receberam intervenção semanal por 9 meses.
KASHEFIMEHR; KAYIHAN; HURI (2018)
The Effect of Sensory Integration Therapy on Occupational Performance in Children With Autism
Verificar o efeito da Terapia de Integração
Sensorial no desempenho ocupacional de crianças com TEA.
Estudo controlado randomizado. Grupo controle e intervenção foram homogêneos em termo de idade e diagnosticados em nível III de TEA.
Autores Título do artigo Objetivo Metodologia
RANDELL et al. (2019)
Sensory integration therapy versus usual care for sensory processing difficulties in autism spectrum disorder in children: study protocol for a pragmatic randomised controlled trial.
O objetivo principal é determinar o impacto da Terapia de Integração Sensorial na irritabilidade e agitação, conforme medido pela subescala correspondente da Aberrant Behavior Checklist (ABC).
Trata-se de um ensaio clínico randomizado pragmático 1:1 controlado individualmente com um piloto interno de Terapia de Integração Sensorial versus atendimento usual para crianças em idade escolar (4 a 11 anos) com TEA e dificuldades de processamento sensorial, na qual 216 crianças foram recrutadas. A terapia foi realizada em clínicas que atenderam aos critérios de fidelidade para a Terapia de Integração Sensorial durante 26 semanas.
XU; YAO; LIU(2019) Intervention effect of sensory integration
Training on the behaviors and quality of life of children with autism.
O efeito da Terapia de Integração
Sensorial sobre os comportamentos e a qualidade de vida de crianças com TEA.
Fonte: Criado pelas autoras, 2021.
108 participantes foram divididos em dois grupos, sendo que apenas os do grupo A receberam tratamento de Integração Sensorial.
ANALISANDO OS ARTIGOS SELECIONADOS
Pfeiffer et al. (2011) realizaram um estudo randomizado que comparou os efeitos da Terapia de Integração Sensorial e um treinamento de coordenação motora fina em dois grupos de crianças de 6 a 12 anos, diagnosticados com TEA. De acordo com os autores, os resultados mais significativos foram em relação ao Goal Attainment Scaling (GAS), no qual se observou que o grupo que recebeu a Terapia de Integração Sensorial obteve melhor alcance dos objetivos traçados por pais e professores que o grupo da coordenação motora fina. Ainda, identificou-se que o grupo de crianças da Terapia de Integração Sensorial evoluiu mais significativamente na diminuição de comportamentos desafiadores quando comparado ao outro grupo. O estudo de Schaaf, Benevides, Mailloux (2013) buscou avaliar a intervenção da Terapia Ocupacional através da Integração Sensorial para dificuldades sensoriais em crianças com TEA, com idades entre 4 e 8 anos. Os resultados mostraram que as crianças do grupo de tratamento que receberam 30 sessões da intervenção de terapia ocupacional pontuaram significativamente mais alto nas escalas de alcance de metas através do GAS (resultado primário), e também pontuaram significativamente em medidas de assistência do cuidador no autocuidado, comparado com o grupo controle de cuidados usuais por meio do Inventário de Avaliação Pediátrica de Incapacidade (PEDI). No entanto, a pesquisa apontou que a evidência é comprometida por limitações metodológicas em estudos existentes. Assim, há necessidade de mais evidências com
uma amostra bem caracterizada, utilizando um protocolo manual, seguindo os princípios da integração sensorial e medição da fidelidade.
O artigo de Iwanaga et al. (2014), teve como objetivo investigar a eficácia da Terapia de Integração Sensorial (IS) para crianças com TEA de alto funcionamento (TEAAF). Participaram 20 crianças TEAAF com QI acima de 70, selecionadas a partir de dados coletados anteriormente. Oito participaram de sessões individuais de Terapia de Integração Sensorial (IS) e 12 participaram de terapia de grupo (TG), incluindo treinamento de habilidades sociais, treinamento de comunicação, atividades cinéticas e brincadeiras com os pais por 8 a 10 meses. As mudanças na pontuação total e cinco pontuações do índice na versão japonesa da Avaliação Miller para pré-escolares antes e depois da terapia entre crianças nos grupos IS e TG foram comparadas. Os resultados mostraram que a pontuação total e todas as pontuações do índice, exceto o índice verbal, aumentaram significativamente no grupo IS, enquanto apenas a pontuação total aumentou no grupo TG. Além disso, o grupo IS mostrou mais melhora em comparação com o grupo TG na pontuação total e nas pontuações de coordenação, não verbal e índice complexo. O IS pode ter um efeito mais positivo nas habilidades de coordenação motora, habilidades cognitivas não verbais e habilidades combinadas de motor sensorial e cognição em crianças com TEAAF quando comparadas com TG.
Os autores Kashefimehr, Kayihan e Huri (2018) realizaram a pesquisa que examinou o efeito da Terapia de Integração Sensorial (IS) em diferentes aspectos do desempenho ocupacional em crianças com TEA. O estudo foi realizado em um grupo de intervenção
recebendo IS e um grupo controle com crianças de 3 a 8 anos de idade com TEA. O Perfil Ocupacional Infantil Curto (SCOPE) foi utilizado para comparar os dois grupos em termos de mudanças no desempenho ocupacional e o Perfil Sensorial (PS) foi utilizado para avaliar problemas sensoriais. O grupo de intervenção apresentou melhora significativamente maior em todos os domínios do SCOPE, bem como em todos os domínios do PS, exceto os domínios “reações emocionais” e “respostas emocionais / sociais”.
O estudo de Randell et al., (2019), consiste em um ensaio clínico randomizado pragmático controlado individualmente com um piloto interno de Terapia de Integração Sensorial versus atendimento usual para crianças em idade escolar (entre 4 e 11 anos) com TEA e dificuldades de processamento sensorial, na qual 216 crianças foram recrutadas. A terapia foi realizada em clínicas que atenderam aos critérios de fidelidade para a Terapia de Integração Sensorial durante 26 semanas. Os resultados deste ensaio forneceram evidências de alta qualidade sobre a eficácia clínica e de custo da Terapia de Integração Sensorial com o objetivo de melhorar os aspectos comportamentais, funcionais, sociais, educacionais e de bem-estar para crianças, cuidadores e famílias.
A pesquisa de Xu, Yao, Liu (2019) realizou um estudo com 108 pacientes, na qual foram aleatoriamente divididos em grupo, sendo: A - Terapia de Integração Sensorial + grupo de tratamento de rotina, como educação e psicoterapia); B - grupo de tratamento de rotina. O grupo experimental e o grupo controle foram avaliados antes e depois do tratamento (que teve duração de três meses), sendo que as escalas (CARS e ABC) foram preenchidas sob a orientação de profissionais. Observou-se na pesquisa, que o
grupo de Terapia de Integração Sensorial demonstrou mudanças significativas nos comportamentos e um progresso significativo em direção a metas individualizadas nas áreas de processamento e regulação sensorial, função socioemocional e habilidades, quando comparados ao grupo controle.
Portanto, diante do que foi apresentado, identificou-se que com a utilização da abordagem de Integração Sensorial de Ayres®, é possível favorecer as crianças com TEA, o engajamento nas atividades, diminuição de comportamentos desafiadores, estereotipias, melhora do processamento sensorial, coordenação motora, habilidades sensório-motoras e cognitivas. Os resultados acima apresentados corroboram com os pressupostos de Ayres (1972) visto que a IS se caracteriza como o processo neurológico de organizar as informações recebidas pelo próprio corpo e ambiente, a fim de promover uma adequada exploração e resposta adaptativa frente ao estímulo presente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente revisão teve como objetivo verificar a eficácia da utilização da Terapia de Integração Sensorial de Ayres® em crianças com TEA, na qual por meio dos resultados das pesquisas e estudos apresentados, foi possível identificar um melhor desempenho das crianças que receberam este tipo de intervenção em comparação a aquelas que receberam apenas terapia tradicional. Como esta é uma população com características diversas, é difícil encontrar estudos metodologicamente sensíveis para avaliar
com precisão estas alterações. Para futuras pesquisas sobre esse assunto, são sugeridos novos estudos sobre como a IS pode contribuir para o desenvolvimento das crianças com TEA.
REFERÊNCIAS
AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION - APA. Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5. Transtornos do neurodesenvolvimento, p. 50-55. Porto Alegre: Artmed, 2014.
AYRES, A. J. Sensory integration and the child. Los Angeles: Western Psychological Services, 1972.
IWARIAGA, R et al. Pilot Study: Efficacy of Sensory Integration Therapy for Japanese Children with HighFunctioning Autism Spectrum Disorder. Occupational Therapy International, Sakamoto, n. 21, p. 4-11. 2014.
KASHEFIMEHR, B; KAYIHAN, H; HURI, M. The Effect of Sensory Integration Therapy on Occupational Performance in Children With Autism. Occupation, Participation and Health, v.38, n.2, p. 75- 83. 2018.
KILROY, E; AZIZ-ZADEH, L; CERMAK, S. Ayres Theories of Autism and Sensory Integration Revisited: What Contemporary Neuroscience Has to Say. Brain Sci, v.9, n.3, p. 68. 2019.
PFEIFFER, B. et al. Effectiveness of Sensory Integration Interventions in Children With Autism Spectrum Disorders: A Pilot Study. The American Journal of Occupational Therapy, n.65, p.76–85. 2011.
POSAR, A; VISCONT, P. Sensory Abnormalities in Children With Autism Spectrum Disorder. J Pediatr (Rio J), n.94, p.34-50. 2018.
RANDELL, E et. al. Sensory Integration Therapy Versus Usual Care for Sensory Processing Difficulties in Autism Spectrum Disorder in Children: Study Protocol for a Pragmatic Randomised Controlled Trial. Trials, v.20, n.1. p. 113. 2019.
SCHOEN, S. A. et al. A systematic review of Ayres Sensory Integration intervention for children with autism. Autism Res, n.12, p.6–19. 2019.
SCHAAF, R. C, BENEVIDES, R., MAILLOUX, Z. An intervention for sensory difficulties in children with autism: A randomized trial. Journal of Autism and Developmental Disorders, v.44, n.7, p. 1493-506. 2013.
XU, W.; YAO, J.; LIU, W. Intervention Effect Of Sensory Integration Training On the Behaviors and Quality of Life of Children With Autism. Psychiatr Danub, n.31, p. 340-346. 2019.
9.
ALTERAÇÕES MOTORAS EM
CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUTISTA SEUS IMPACTOS
NA PARTICIPAÇÃO SOCIAL
Angélica Cristina Sousa Fonseca Romeros
Gabriela Vieira
Isabel Pires da Silva Gomes
Bibiana da Silveira dos Santos Machado
INTRODUÇÃO
Desde o século XIX, há discussões acerca dos transtornos da primeira infância e de suas características multifatoriais relacionadas a questões ambientais e biológicas que influenciam diretamente as escolhas de intervenções dos profissionais da reabilitação (WHITMAN, 2015). O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um dos distúrbios da primeira infância amplamente estudado, os primeiros ensaios datam de 1940 com trabalhos de Leo Kanner, psiquiatra infantil (WHITMAN, 2015).
O TEA afeta diversas áreas do neurodesenvolvimento, podendo ser identificadas de maneira precoce, como as alterações cognitivas, habilidades sociais, aspectos emocionais, e sensório-motores (PAQUET et al., 2016). Dessa forma, é considerado um transtorno do neurodesenvolvimento, com prejuízos nas habilidades de comunicação e interação social, associado a padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses e/ou atividades (APA, 2013). Apesar de não ser considerado critério diagnóstico, o déficit em habilidades motoras é uma queixa frequente porque essas pessoas apresentam comprometimento motor como disfunções de motricidade fina, alterações na práxis e dificuldades com imitação, que persistem durante toda a vida, com características e intensidades diferentes em cada fase (HAWKS et al., 2019; PAQUET et al., 2016).
Embora a literatura discorra e aprofunde sobre os impactos no desenvolvimento motor de crianças com TEA, as alterações motoras não fazem parte dos critérios diagnósticos descritos no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, em
sua quinta e mais atual edição (APA, 2013). Esse fato pode influenciar diretamente em aspectos relacionados ao conhecimento sobre o atraso no desenvolvimento motor dessas crianças, assim como no acesso às informações adequadas pelos familiares e profissionais da saúde e educação, além de diminuir as oportunidades terapêuticas corretas.
O controle motor consiste em uma relação entre os processos que organizam e coordenam os movimentos funcionais com os feedbacks advindos do ambiente e do próprio corpo. Crianças e adolescentes com TEA, apresentam alterações nesse sistema de controle motor (WHITMAN, 2015; PAQUET et al., 2016). Estudos apontam que as alterações do movimento são aspectos importantes no neurodesenvolvimento das crianças com TEA (BRAND et al., 2015; HAWKS et al., 2019; PAQUET et al., 2016). Além disso, essas alterações podem impactar negativamente no desempenho para realizar atividades diárias, para brincadeiras no dia a dia, como arremessar uma bola, redução do interesse em participar de atividades, menos interação social e participação em atividades coletivas (BRAND et al., 2015, HAWKS et al., 2019).
Compreender a natureza, os tipos e prevalência das alterações motoras pode contribuir para se pensar novas abordagens de tratamento e orientar a visão da equipe multidisciplinar na assistência à criança com TEA. Embora a participação em atividades físicas, apontem resultados positivos para melhorar a ocorrência e intensidade de movimentos estereotipados, autoagressão e comportamentos disruptivos na escola, (BRAND et al., 2015) nos contextos clínicos, observa-se foco mais evidente em
terapias de reabilitação cognitivas e de linguagem quando comparado às terapias motoras.
O aprofundamento teórico, científico e baseado em evidências relacionado à influência das alterações motoras na funcionalidade é essencial para a inclusão das pessoas com TEA, porque favorece o aperfeiçoamento das equipes multidisciplinares na prática clínica. Por isso, o objetivo deste capítulo foi realizar uma revisão da literatura, sobre alterações motoras em crianças com TEA e a influência na participação social.
Foi realizada uma busca em bancos de dados para selecionar estudos publicados nos últimos cinco anos, utilizando os descritores: “Autism AND “Motor disorder” OR “motor skill” AND impairment. Para serem incluídos, os estudos tinham que conter o termo “habilidade(s) motora(s)” no título ou resumo e ter como público-alvo crianças e adolescentes com diagnóstico de TEA e idade de 0 a 12 anos. Foram excluídos os estudos que abordavam outras condições associadas ao TEA e os que não atendiam aos critérios de inclusão. Como resultado de busca foram encontrados 21 artigos nos quais 15 foram excluídos, restando 06 para análise (MOSELEY; PULVERMÜLLER, 2018; PAQUET et al., 2016; RAFIE et al., 2017; HAWKS et al., 2019; CRAIG et al., 2020; BRAND et al., 2015). Esses artigos foram agrupados em 3 principais subtemas e serão apresentados a seguir.
ALTERAÇÕES MOTORAS EM
CRIANÇAS COM TEA
Crianças com TEA, frequentemente, apresentam alterações motoras significativamente mais evidentes quando comparadas às crianças neurotípicas, impactando de maneira significativa no seu bem-estar e funcionalidade (MOSELEY; PULVERMÜLLER, 2018). Além disso, ao observar vídeos de crianças com diagnósticos de TEA, quando bebês, apontam dificuldades motoras ao serem carregadas por seus pais e hipotonia muscular (PAQUET et al., 2016). Essas crianças têm dificuldades na imitação e em tarefas que exigem o controle postural estático ou dinâmico, o que pode afetar a locomoção, salto e atividades funcionais (PAQUET et al., 2016).
O sistema motor cortical pode estar alterado, apresentando córtex motor primário com aumento da substância cinzenta, maior área de superfície (ambos no córtex motor direito) e excesso de substância branca no córtex motor primário. Dessa maneira, as conexões entre os hemisférios cerebrais e entre outras regiões como cerebelo e tálamo, podem estar prejudicadas, no que diz respeito às conexões necessárias para as tarefas motoras (MOSELEY; PULVERMÜLLER, 2018).
Autores apontam correlação entre alterações motoras encontrados em crianças com TEA e alterações neuroanatômicas (MAHAJAN et al., 2015; MOSTOFSKY; BURGESS; GIDLEY, 2007; FOX; RAICHLE, 2007; HONEY, 2009). Analisando as tarefas motoras, foi observada redução na atividade sincronizada
entre o córtex motor primário direito e esquerdo, alterações da lateralização, caracterizada por hiperconectividade funcional no córtex motor primário direito e hipoconectividade no córtex motor primário esquerdo, nas quais se relacionam a alterações biomecânicas na marcha (MOSELEY; PULVERMÜLLER, 2018).
Fatores como idade e sexo podem influenciar na forma como as alterações acima citadas aparecem nas pessoas com TEA. A idade pode modular a conectividade cerebral, sendo que elas são mais hiperativas na infância e têm uma tendência à hipoatividade em uma idade mais avançada, isso foi demonstrado em estudos feitos comparando crianças (<11 anos), adolescentes (entre 11 e 18 anos) e adultos (< ou = 18 anos) (MOSELEY; PULVERMÜLLER, 2018). Assim como o sexo tem uma função moduladora no cérebro, meninas apresentam uma maior substância branca na região motora primária, quando comparado com meninos da mesma faixa etária (MOSELEY; PULVERMÜLLER, 2018).
Essas alterações do movimento impactam as tarefas que relacionam o indivíduo com o ambiente na vida diária e em relações interpessoais como, por exemplo, participar de jogos e atividades coletivas que exigem do indivíduo interação e participação com outras crianças e adolescentes. Dentre as principais alterações de comportamento motor encontrado no TEA, em crianças com idade entre 4 anos e 11 anos, destacam-se as dificuldades de imitação, descoordenação motora fina e grossa, dificuldades no equilíbrio postural (estático e dinâmico) e controle postural reduzido quando comparados com crianças e adolescentes da mesma faixa etária (PAQUET et al., 2016).
A imitação desempenha um papel fundamental no desenvolvimento motor, linguístico e social da criança. Ela está intimamente ligada ao desenvolvimento da linguagem, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento de habilidades sociocomunicativas (CAPOVILLA; CAPOVILLA 1997). Estudos que analisaram a habilidade de imitação em crianças com TEA comparadas a crianças neurotípicas, observaram que elas apresentavam dificuldades em imitar e o faziam com movimentos mais lentos e descoordenados. Alterações nessa área de habilidade merece atenção dos terapeutas, pois podem influenciar situações da vida cotidiana para iniciar e manter interações sociais e por consequência impactar de maneira negativa na socialização (FITZPATRICK et al., 2017, HAWKS et al., 2019).
Corroborando sobre esses aspectos, um estudo transversal investigou alterações motoras e comportamentos adaptativos e de comunicação, em crianças com TEA, comparando os sexos femininos e masculinos, na pré escola (com média de idade entre 2,6 e 4,5 anos) (CRAIG et al., 2020). Meninas com TEA mostram mais habilidades de comportamentos adaptativos, para se comunicar e fazer pedidos apropriados quando comparado aos meninos. Essa pesquisa apontou uma relação linear entre as habilidades motoras finas e a predição de alterações na comunicação e comportamentos sociais nos meninos. Já nas meninas, essa relação não foi observada (CRAIG et al., 2020).
Nesse sentido, as meninas apresentaram melhor desempenho em habilidades motoras finas e os meninos apresentaram melhores desempenhos nas habilidades motoras grossas (CRAIG et al., 2020). A partir dessa predição levantou-se a hipótese que
as habilidades motoras finas poderiam exercer um efeito no ambiente de aprendizagem da linguagem e comunicação social. Dessa forma, aspectos do desenvolvimento das habilidades motoras podem ser um forte marcador para identificar crianças com atraso na linguagem e comunicação social de indivíduos com TEA (CRAIG et al., 2020).
Crianças com TEA apresentam frequentemente alterações no processo de estruturação do esquema corporal, que podem impactar não apenas no desenvolvimento da coordenação motora, mas também no equilíbrio e lateralidade, as quais são necessárias para aquisição de autonomia, aprendizagens cognitivas e independência (BRAND et al., 2015; HAWKS et al., 2001). O equilíbrio postural é apontado como uma importante limitação motora encontrada em crianças e adolescentes com TEA (BRAND et al., 2015; SUMNER; LEONARD; HILL, 2016; HAWKS et al., 2001). Alterações no equilíbrio tanto estático, como dinâmico, estão associadas a uma imaturidade postural e a um déficit global no controle postural. Ajustes posturais e déficit de equilíbrio podem afetar a participação das crianças em atividades essenciais da vida, como por exemplo, o brincar (PAQUET et al., 2016) e, por isso, torna-se foco de atenção na reabilitação.
O equilíbrio postural é compreendido como parte integrante do controle motor humano, permitindo aos indivíduos assumir e manter a posição corporal desejada durante alguma atividade, seja ela estática ou dinâmica, o que inclui controle neural e orientação postural (WHITMAN, 2015; HORAK; MACPHERSON, 1996). Crianças com e sem TEA foram comparadas nos aspectos do controle sensório-motor dos movimentos do braço e os ajustes
posturais para a atividade de pegar uma bola. Foi observado que as crianças com TEA apresentam mais dificuldades no controle postural e os ajustes posturais antecipatórios eram atrasados (CHEN et al., 2019). Durante as brincadeiras as crianças com TEA apresentam dificuldades em tarefas como pegar e jogar uma bola, rebater uma bola, e deslocamentos que exigem mudanças de posição do corpo no espaço. Dessa forma, essas dificuldades podem impactar tarefas de vida diária que exigem pegar objetos, sentar-se e levantar, mover objetos e deambular pelos espaços (PAQUET et al., 2016).
Além dos déficits de equilíbrio, controle postural e imitação em crianças e adolescentes com TEA, dificuldades no planejamento motor também foram encontradas, principalmente em tarefas bimanuais. O aprendizado motor e a execução de movimentos ativos parecem ser mais lentos e, a hipotonia, é frequentemente observada como características importantes (MORAES et al., 2020; PAQUET et al., 2016).
A partir do exposto, as alterações motoras são aspectos importantes que podem influenciar no desempenho em atividades diárias. E, por isso, torna-se imprescindível que profissionais envolvidos nos cuidados terapêuticos destas crianças considerem-nas para traçar condutas de intervenções. Para tanto, é essencial a prática de avaliações constantes e aprofundadas, como por exemplo o uso de entrevistas com pais e professores, observações diretas da criança e adolescente e aplicação de instrumentos padronizados. Exemplo desses instrumentos são o Movement ABC test (mABC) e o Standardized Assessment Battery for Neurodevelopmental Psychomotor Functions (NP-MOT) por captar
alterações do desenvolvimento motor global e foram utilizadas em diversos estudos (PAQUET et al., 2016; PAQUET et al., 2019; BRICOUT et al., 2019; CRAIG et al., 2018; VALENTE et al., 2019).
ALTERAÇÕES MOTORAS COMO SINAIS DE ALERTA NO DIAGNÓSTICO DE TEA
O desenvolvimento da comunicação, linguagem e interação com outras pessoas dependem do uso de habilidades motoras (GERNSBACHER; SAUER; GEYE, 2008) concomitante à outras habilidades. Portanto, as alterações motoras podem causar consequências de alcance funcional para pessoas com TEA. Algumas alterações motoras podem ser percebidas de maneira precoce, antes dos sinais clássicos de TEA, e, persistirem durante toda a vida relacionando com o grau de severidade e nível de suporte necessários (HAWKS et al., 2019). Esses atrasos são observados nos marcos do desenvolvimento motor como, rolar, sentar-se, arrastar, engatinhar e andar. Ou seja, pode ser percebido antes dos 3 anos de idade e do diagnóstico médico de TEA (BRAND et al., 2015; SUMNER; LEONARD; HILL, 2016).
Esses atrasos nos marcos de desenvolvimento motor podem reduzir a capacidade de exploração do ambiente, assim como limitar as experiências diárias, importantes para a aprendizagem (MOSELEY; PULVERMÜLLER, 2018). Exemplos disso, estão os estudos que associam o maior controle das mãos para balançar um chocalho com as habilidades de comunicação gestual e o desenvolvimento futuro da linguagem. Sendo assim, o
desenvolvimento da linguagem e da motricidade orofacial ocorrem em equilíbrio com os ganhos de função motora grossa (MOSELEY; PULVERMÜLLER, 2018).
Alguns estudos buscam analisar se existe relação de atrasos e/ou déficit motores no desenvolvimento de TEA. Landa, Haworth e Nebel (2016) examinaram o risco precoce de TEA e a existência de indicadores detectáveis na primeira infância. Neste estudo, bebês de 6 a 14 meses de idade foram analisados e divididos em dois grupos: Grupo alto risco (AR) formado pelas crianças que já tinham irmãos com TEA e grupo baixo risco (BR) formado pelas crianças com irmãos neurotípicos. Foi avaliada a função viso-motora (rolar uma bola) e suas respostas. Os resultados demonstraram que os bebês AR já apresentavam dificuldades em realizar feedback motor relacionado à tarefa visual, que podem ser explicadas pelo déficit de atenção, interação e desinteresse ao explorar objetos, neste caso, a bola. Além do mais, os bebês BR tinham preferências e respondiam mais aos rostos do que aos objetos, ao contrário dos bebês de AR. Tais observações, portanto, poderiam predizer a possibilidade de ocorrência de TEA (Landa; HAWORTH; NEBEL, 2016).
Para tanto, conjectura-se que sinais de atrasos de marcos e habilidades motores podem ser preditivos de TEA. No entanto, mais estudos acerca do assunto devem ser realizados para sua comprovação. Além disso, na presença de atrasos e déficit motores, é de fundamental importância uma avaliação criteriosa de profissionais capacitados.
INTERVENÇÕES VOLTADAS PARA AS
ALTERAÇÕES MOTORES EM CRIANÇAS COM TEA
Acreditando que o comportamento e aprendizagem motora estão interligadas ao comportamento adaptativo e interação social (HAWKS et al., 2019) e que os sistemas motores e suas conexões com outras partes do cérebro são essenciais para a cognição superior (MOSELEY, PULVERMULLER, 2018), há uma necessidade de compreender se o tratamento dos primeiros sinais de anormalidade do sistema nervoso central (que acarretam à disfunções motoras, antes mesmo do diagnóstico de TEA), podem mitigar déficit sociocognitivos posteriores (SUMNER; LEONARD; HILL, 2016).
Porém, são poucos os estudos que descrevem as alterações motoras presentes nos indivíduos com TEA e, por isso, muitos artigos foram excluídos do estudo devido à falta de abordagem que relacionasse o TEA as alterações motoras, de fato, e por apresentarem informações mais focadas em outros aspectos da apresentação do TEA, como teoria da mente, relações dos sintomas ‘autísticos’ e questões genéticas. Dentre os artigos incluídos para esta revisão, apenas três apresentaram opções de tratamento/ intervenção.
Serge Brand et al. (2015) sugeriram a prática de atividades físicas aeróbicas para uma melhora no sono de crianças com TEA. Distúrbios do sono são muito comuns, 40% a 80% das crianças irão desenvolver distúrbios relacionados ao sono, principalmente
insônia. Há uma tendência de que após uma noite de sono comprometida as crianças apresentam maior quantidade de movimentos estereotipados, mais agitação e aumento dos comportamentos restritos (BRAND et al., 2015).
Além das atividades aeróbicas, foram recomendadas como intervenção exercícios físicos que trabalhem habilidades percepto-motoras. No estudo de Rafie et al., (2017) atividades como andar em uma trave de equilíbrio, equilíbrio em uma perna só (com olhos abertos e fechados), caminhada em zigue-zague, caminhada “calcanhar dedos”, pular corda, corrida, cabo-de-guerra, além das atividades motoras grossas, citadas acima, também foram trabalhados, como intervenção. Atividades como malabarismos com sacos de feijão, empilhar palitos de madeira, empurrar objetos, jogos de nomear objetos, jogos com raquete e bolas. Tais atividades foram trabalhadas em um período de 10 semanas. De acordo com esse estudo, as atividades tiveram efeitos significativamente positivos sobre a promoção da percepção motora em habilidades como força, equilíbrio, coordenação motora, velocidade, destreza e controle viso-motor em crianças com TEA (RAFIE et al., 2017).
Outra atividade com bons resultados foi andar de bicicleta. No estudo de Hawks et al. (2019) com esta atividade, as crianças com TEA tiveram ganhos na participação com o ambiente e nas habilidades motoras necessárias para a realização da tarefa especificada. Porém, mais estudos precisam ser realizados para avaliar a generalização dos ganhos motores para as Atividades de Vida Diária (HAWKS et al., 2019).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar do TEA ser caracterizado por alterações no comportamento social, associadas a padrões de interesse e comportamento restritos e repetitivos, os indivíduos vivenciam alterações motoras persistentes, que impactam significativamente sua funcionalidade. As pesquisas a respeito levantam hipóteses que correlacionam as alterações motoras à intensificação dos prejuízos na interação social, uma vez que podem se tornar barreiras importantes para a participação em diversas atividades, como o brincar, lazer, atividades de aprendizado e atividades instrumentais de vida diária, que geram oportunidades importantes de socialização e, consequentemente, aprendizado de habilidades sociais.
As alterações motoras podem ser percebidas precocemente, antes mesmo dos sinais clássicos do transtorno, pelo olhar atento da equipe multidisciplinar e da família. O encaminhamento ao tratamento adequado pode prevenir que estas alterações se configurem como barreiras para a participação do indivíduo em todas as esferas da vida e, inclusive, pode contribuir com o manejo de sintomas importantes, como as alterações de sono.
São necessários, no entanto, estudos que identifiquem o impacto do tratamento precoce das alterações motoras de crianças com TEA em sua participação e funcionalidade, bem como se, de fato, a melhora das habilidades motoras de crianças com TEA resulta em melhora das habilidades de interação social. Além disso, conhecer a etiologia das alterações motoras de crianças com TEA pode contribuir para o desenvolvimento de abordagens de tratamentos específicos para esta condição.
REFERÊNCIAS
AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION - APA. Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM5. Transtornos do neurodesenvolvimento. cáp. 4, p. 5055. Porto Alegre: Artmed, 2014.
BRAND, S.; et al. Impact of aerobic exercise on sleep and motor skills in children with autism spectrum disorders – a pilot study. Neuropsychiatric Disease and Treatment, Alemanha, v. 2015, n.11, p. 1911-1920, agosto. 2015.
BRICOUT, V. A. et al; Motor Capacities in Boys with High Functioning Autism: Which Evaluations to Choose? J Clin Med. França, v. 08, n.10, p.1521, setembro, 2019.
CAPOVILLA, F. C.; CAPOVILLA, A. G. S. Desenvolvimento linguístico na criança dos dois aos seis anos: tradução e estandardização do Peabody Picture Vocabulary Test de Dunn & Dunn, e da Language Development Survey de Rescorla. Ciência Cognitiva: teoria, pesquisa e aplicação. São Paulo, v.01, n.01, p. 353-380, janeiro. 1997.
CHEN, L. C.; SU, W. C.; HO, T. L.; LU, L.; TSAI, W. C.; CHIU, Y. N.; JENG, S. F.; Postural Control and Interceptive Skills in Children With Autism Spectrum Disorder. Physical Therapy. EUA, v.01, n.09, p. 1231-1241, setembro, 2019.
CRAIG, F.; CRIPPA, A.; DE GIACOMO, A.; RUGGIERO, M.; RIZZATO, V.; LORENZO, A.; FANIZZA, I.; MARGARI, L.; TRABACCA, A.; Differences in Developmental Functioning Profiles Between Male and Female Preschoolers Children With Autism Spectrum Disorder. Autism Research, Italy, v.13, n.00, p. 1537-1547, março, 2020.
CRAIG, F.; LORENZO, A.; LUCARELLI, E.; RUSSO L. et al. A Motor competency and social communication skills in preschool children with autism spectrum disorder. Autism Res. Itália, v. 11, n.06, p. 893-902, junho, 2018.
FITZPATRICK, P.; ROMERO, V.; AMARAL, J. L.; DUNCAN, A.; BARNARD, H.; RICHARDSON, M. J.; SCHMIDT, R. C.; Evaluating the Importance of Social Motor Synchronization and Motor Skill for Understanding Autism. Autism Research. Cincinnati, v.10, n.10, p. 1687-1699, outubro, 2017.
FOX, M. D.; RAICHLE, M. E.; Spontaneous fluctuations in brain activity observed with functional magnetic resonance imaging. Nature Reviews Neuroscience. V. 08, n. 09, p.700-711, setembro, 2007.
GERNSBACHER, M. A.; SAUER, E. A.; GEYE, H. M.; Infant and toddler oral- and manual-motor skills predict later speech fluency in autism. Journal of Child Psychology and Psychiatry. USA, v.49, n. 01, p. 43-50, janeiro, 2008.
HAWKS, Z.; CONSTANTINO, J. N.; WEICHSELBAUM, C.; MARRUS, N.; Accelerating Motor Skill Acquisition for Bicycle Riding in Children with ASD: A Pilot Study. Journal of Autism and Developmental Disorders, EUA, v.18, n.50, p. 342-348, setembro.2019.
HONEY, C. J.; SPORNS, O.; CAMMOUN, L.; GIGANDET, X.; THIRAN, J. P.; Predicting human resting-state functional connectivity. PNAS. Índia, v. 106, n.06, p. 01-06, novembro, 2008.
HORAK, F. B.; MACPHERSON, J. M.; Postural orientation and equilibrium. Handbook of physiology. Nova York, v.35, n.52, p. 255-92, 1996.
LANDA, J, R.; HAWORTH, L, J.; NEBEL, B, M.; Ready, Set, Go! Low Anticipatory Response during a Dyadic Task in Infants at High Familial Risk for Autism. Frontiers in Psychology. EUA, v.7, n.721, p. 01-12, maio. 2016.
MAHAJAN, R.; DIRLIKOV, B.; CROCETTI, D.; MOSTOFSKY, S. H.; Motor circuit anatomy in children with autism spectrum disorder with or without attention deficit hyperactivity disorder. Autism Research. Maryland, v. 09, n. 01, p. 67-81, janeiro, 2016.
MORAES, Í. A. P.; MONTEIRO, C. B. D. M.; SILVA, T. D. D.; MASSETTI, T.; CROCETTA, T. B.; DE MENEZES, L. D. C.; ANDRADE, G. P. D. R.; DAWES, H.; COE, S.; MAGALHÃES, F. H.; Motor learning and transfer between real and virtual environments in young people with autism spectrum disorder: A prospective randomized cross over controlled trial. Autism Research, São Paulo, v.13, p. 307319, setembro. 2020.
MOSELEY, R. L.; PULVWERMULLER, F.; What can autism teach us about the role of sensorimotor systems in higher cognition? New clues from studies on language, action semantics, and abstract emotional concept processing. Cortex, UK, v.100, n.2018, p.149-190, dezembro.2017.
MOSTOFSKY, S. H.; BURGESS, M. P.; GIDLEY, J. C.; Increased motor cortex white matter volume predicts motor impairment in autism. Brain. USA, v. 130, n. 08, p. 21172122, junho, 2015.
PAQUET A.; OLLIAC B.; GOLSE B.; VAIVRE D. L.; Nature of motor impairments in autism spectrum disorder: A comparison with developmental coordination disorder. J Clin Exp Neuropsychol. França, v. 41, n.01, p. 01-14, junho, 2019.
PAQUET, A.; OLLIAC, B.; BOUVARD, M. P.; GOLSE, B.; DOURET, L. V.; The Semiology of Motor Disorders in Autism Spectrum Disorders as Highlighted from a Standardized Neuro-Psychomotor Assessment. Frontiers in Psychology, França, v.7, n.1292, p. 1-11, setembro. 2016.
RAFIE, F.; SEMI, A. G.; JAM, A. Z.; JALALI, S.; Effect of exercise intervention on the perceptual-motor skills in adolescents with autism. Journal Of Sports Medicine And Physical Fitness. Kerman, v. 57, n. 1-2, p. 53-54, fevereiro, 2017.
SUMMER, E.; LEONARD, H. C.; HILL, E. L.; Overlapping Phenotypes in Autism Spectrum Disorder and Developmental Coordination Disorder: A Cross-Syndrome Comparison of Motor and Social Skills. J Autism Dev Disord, UK, v. 46, n. 8, p. 2609-2620, agosto, 2016.
VALENTE, F.; PESOLA, C.; BAGLIONI, V.; GIANNINI, T. M.; CHIAROTTI, F.; CARAVALE, B.; CARDONA, F.; Developmental Motor Profile in Preschool Children with Primary Stereotypic Movement Disorder. Biomed Res Int. Itália, v. 2019, n. 14, p. 01-06, fevereiro, 2019.
WHITMAN, Thomas L. O desenvolvimento do autismo: social, cognitivo, linguístico, sensório-motor e perspectivas biológicas. São Paulo: M.Books, 2015.
A UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA
ASSISTIVA PARA A PROMOÇÃO DO BRINCAR
Amanda Vieira Soares Cunha
Tássio Cunha Paes da Costa
Cláudia Regina Cabral Galvão
INTRODUÇÃO
O desenvolvimento da criança é um processo dinâmico e envolve os diversos contextos em que ela está inserida. Durante a infância, há um progressivo ganho em suas habilidades físicas, cognitivas, sociais e emocionais e em sua funcionalidade, que favorecem o processo de independência e estão relacionadas à sua interação com familiares, cuidadores, amigos, pessoas do convívio social e aos diversos aspectos ligados ao contexto em que está inserida.
A condição de saúde das pessoas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), conceituada na Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde – versão para crianças e jovens (CIF-CJ), está atrelada ao funcionamento dos órgãos, dos sistemas e da estrutura do seu corpo, ao desempenho das atividades e à sua participação, o que é influenciado por fatores pessoais e ambientais. Durante a infância, alterações ocorridas nas funções e na estrutura do corpo podem comprometer a participação da criança nas brincadeiras, sua interação social e, até mesmo, a aprendizagem de habilidades (OMS, 2011).
As situações adversas poderão restringir o desenvolvimento da criança em seus padrões esperados. Assim, o período de alcance dos marcos do desenvolvimento, a formação de estruturas e/ou o desempenho de habilidades podem sofrer um atraso no desenvolvimento esperado em relação à idade cronológica da criança. O não alcance dos marcos no tempo esperado pode se configurar como um risco maior de a criança apresentar incapacidades ou
deficiências e, possivelmente, afetar sua participação nas diversas ocupações.
Nesse contexto, para minimizar os impactos da falta de engajamento em suas ocupações, deve-se, no processo de reabilitação, promover o desenvolvimento da criança em seus diversos aspectos, inclusive com o uso de recursos e ferramentas de tecnologia assistiva ou dispositivos de ajuda (OMS, 2011).
A tecnologia assistiva (TA) é uma área de conhecimento interdisciplinar que engloba recursos, produtos, métodos e instrumentos que visam promover a funcionalidade da pessoa com algum tipo de deficiência. Pode ser utilizada no cotidiano das crianças como ferramenta para auxiliar diversas habilidades necessárias para o desempenho do brincar e das demais ocupações e abrange o entendimento e a percepção das funções e das estruturas do próprio corpo e tudo em que está inserida durante a infância (AOTA, 2020).
Os dispositivos de tecnologia assistiva voltados para o brincar podem ser compreendidos desde objetos ou brinquedos adaptados, até englobar acionadores, aplicativos de smartphones e tablets, materiais de encaixes especiais, entre outros. Elas facilitam a interação das crianças e podem ser indicadas de forma prática para melhorar a sua função.
A TA em foco quando se pensa no envolvimento de crianças em suas ocupações relacionadas ao brincar pode ser pensada como facilitadora seu engajamento por meio de seus cuidadores ou do próprio meio em que vivem. Além disso, elas podem ser usadas para eliminar barreiras arquitetônicas e até mesmo atitudinais,
Desta maneira, para compreender o panorama atual das publicações sobre o uso da tecnologia assistiva e como ela tem auxiliado esta ocupação primordial da infância, foi realizada uma revisão da literatura para fundamentar a discussão proposta. Buscou-se identificar quais os dispositivos de tecnologia assistiva estão sendo prescritos e/ou utilizados, por profissionais da terapia ocupacional e outras áreas da reabilitação, com as crianças com deficiência e os contextos em que são utilizados (auxiliar a mobilidade, a coordenação motora, as questões escolares e/ou o processo terapêutico, promoção do lúdico). Para isso, foi definida a seguinte questão norteadora para esta revisão: ‘Como os recursos de tecnologia assistiva têm sido utilizados para promover o brincar?’
TECNOLOGIA ASSISTIVA
No Brasil, o acesso à tecnologia assistiva visa a funcionalidade da pessoa com deficiência ou com alguma alteração em sua condição de saúde, para promover condições de participação e engajamento em suas ocupações. Segundo o governo federal, por meio do Comitê de Ajudas Técnicas (CAT), foi estabelecido o conceito de tecnologia assistiva, através do Decreto nº 5.296/2004, como:
(...) uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias,
187 visando ampliar a participação das crianças e as oportunidades de se desenvolverem (SERRANO, 2018).
estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à atividade e participação, de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. (BRASIL, 2009, p. 26).
As categorias para os dispositivos de tecnologia assistiva, segundo Bersch (2017), são:
“1. Auxílios para a vida diária e vida prática; 2. Comunicação aumentativa e alternativa; 3. Recursos de acessibilidade ao computador; 4. Sistemas de controle do ambiente; 5. Projetos arquitetônicos para acessibilidade; 6. Órteses e próteses; 7. Adequação postural em cadeira de rodas; 8. Auxílios de mobilidade; 9. Auxílios para ampliação da função visual e recursos que traduzem conteúdos visuais em áudio ou informação tátil; Dispositivos de auxílio para cegos ou visão subnormal; 10. Auxílios para melhorar a função auditiva e recursos utilizados para traduzir os conteúdos de áudio e imagem, texto e língua de sinais; 11. Mobilidade em veículos e 12. Esporte e lazer” (p. 3-11).
Desta maneira, entende-se que a Tecnologia Assistiva pode ser um suporte para promoção da ampliação do repertório ocupacional da criança, em que tenha acesso às suas ocupações com equidade, incluindo ao brincar. No processo contínuo de aprendizagem no desenvolvimento infantil, o brincar é um importante aliado para a criança. É a partir dele que ela articula o que já
sabe e gera novas experiências que a tornam capaz de desenvolver habilidades motoras, cognitivas, sensoriais e sociais que serão utilizadas ao longo de toda a vida (RODRIGUES, 2009).
BRINCAR
As brincadeiras são atividades naturais da criança e essenciais para a autorregulação e a autoexpressão. Elas podem ser iniciadas e gerenciadas pela própria criança (com direcionamentos, interrupções, tomadas de decisões) e, por meio da interação com o próprio corpo, com objetos e com o uso do jogo simbólico, a criança começa a dar sentido ao mundo, a compreender e a expressar seus interesses e desejos e a manejar suas emoções em situações difíceis (SERRANO, 2018).
É por meio de brincadeiras que a criança aprende sobre si mesma, sobre o mundo e se envolve em atividades típicas de sua idade, quando é motivada para desenvolver uma tarefa, manejar objetos e interagir com outras pessoas. Essa relação da criança com seu contexto é necessária para que se engaje nas demais ocupações futuras e adquira novas habilidades. Esse processo se configura com a presença do lúdico em seu cotidiano. E para que isso ocorra com as crianças que têm deficiência, pode ser necessário utilizar brinquedos adaptados e ter o apoio de outras pessoas para proporcionar momentos agradáveis e divertidos. Acreditase que as experiências lúdicas podem potencializar o desempenho e a participação das crianças com deficiência e ser um meio de proporcionar a inclusão social e a escolar (CHIARELLO, L et al, 2018).
ANALISANDO OS ARTIGOS
Para fazer o levantamento dos periódicos, o critério de inclusão definido foi: artigos nos idiomas inglês, espanhol e português publicados nos últimos cinco anos (entre os anos de 2016 e 2021). As palavras-chave foram definidas a partir dos descritores em Ciências da Saúde - DeCS/MeSH, com pesquisas indexadas com crianças, processo do brincar e uso da tecnologia assistiva, a saber: toys; assistive technology; assistive technology needs; play and playthings; children with developmental disabilities. A pesquisa partiu do levantamento de artigos indexados nas bases do Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES. Foram excluídos do levantamento artigos de revisão de literatura, resumos/resenhas, apresentações e livros; títulos que se repetiam; pesquisas que envolviam o público adolescente, o adulto e o idoso; publicações que não se referiam ao brincar/lazer ou ao uso de produtos de tecnologia assistiva para este fim.
Depois de feito o cruzamento dos descritores, foram selecionados 784 artigos para serem analisados por títulos, advindos do cruzamento dos descritores: toys AND assistive technology (188); assistive technology needs AND play and playthings (2); assistive technology AND children with developmental disabilities (594).
A Figura 1 apresenta o diagrama com o fluxo da seleção realizada.
Figura 1 - Diagrama de fluxo dos estudos filtrados, avaliados com base nos critérios de elegibilidade.
IDENTIFICAÇÃO
Estudos identificados através de estratégias de buscas (n = 784)
Artigos originais selecionados (n = 784)
Registros duplicados eleminados (n = 49)
(Total n = 735)
SELEÇÃO
Artigos excluídos por título (n = 687)
(Total n = 48)
Registros selecionados para leitura completa
(n = 14)
INCLUSÃO
Artigos excluídos após leitura dos resumos
(n = 34)
Registros excluídos após leitura completa
(n = 10)
Estudos selecionados para síntese qualitativa (n = 4)
Fonte: Os autores, 2021.
O Quadro 1 apresenta a síntese dos estudos selecionados para análise, que contém título, autores, periódicos e ano de publicação.
Quadro 1- Descrição dos artigos selecionados para análise.
Título Autores Periódico Ano
Development and Preliminar Investigation of a Semiautonomous Socially Assistive Robot (SAR) Designed to Elicit Communication, Motor Skills, Emotion and Visual Regard (Engagement) from Young Children with Complex Cerebral Palsy: a Pilot Comparative Trial
Facilitators and Barriers of Assistive Technology and Learning Environment for Children with Special Needs
The Needs of Play in Children with Disabilities Na Italian Research
Assistive technology needs, funcional difficulties, and services utilization and coordination of children with developmental disabilities in the United States
Clark; Sliker; Sandstrum; Burne; Haggett; Bodine
in Human – Computer Interaction
Lersilp; Putthinoi; Lersilp Hindawi Occupational Therapy International 2018
Zappaterra; Pisano
Lin; Gold Assistive Technology
Fonte: Os autores, 2021.
Os quatro artigos selecionados para a análise e a discussão apontam para a tecnologia assistiva como uma ferramenta necessária para o bom desenvolvimento da criança com deficiência, assim como as dificuldades percebidas pelas crianças e seus responsáveis para promoção de um cotidiano com bom engajamento em suas ocupações.
No Quadro 2, apresentam-se os estudos selecionados com seus respectivos objetivos, métodos, amostras e desfechos.
Título do artigo
Development and Preliminary Investigation of a Semiautonomous Socially Assistive Robot (SAR) Designed to Elicit Communication, Motor Skills, Emotion, and Visual Regard (Engagement) from Young Children with Complex Cerebral Palsy: a Pilot Comparative Trial.
Facilitators and Barriers of Assistive Technology and Learning Environment for Children with Special Needs
Quadro 2 - Síntese dos artigos selecionados.
Desenvolver um robô semiautônomo para crianças com paralisia cerebral e dar informações úteis sobre o desenvolvimento, no futuro, de um robô totalmente autônomo para potencializar as sessões de reabilitação, visando melhorar o desempenho ocupacional e diminuir a sobrecarga do cuidador.
Identificar os fatores que proporcionam eficácia para a tecnologia assistiva, visando promover um ambiente de aprendizado adequado para estudantes com deficiência.
Foram aplicados dois questionários semiestruturados, um direcionado aos pais de crianças com deficiências, e o outro, aos representantes de associações de pessoas com deficiência. No estudo, pesquisadores e profissionais foram divididos entre quatro grupos de trabalho com temáticas distintas.
Entrevista individual com aplicação de questionário baseado na Classificação da Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF). Caso as crianças não tenham condições de responder, houve a participação dos responsáveis, professores e terapeutas ocupacionais.
Foram coletados 75 questionários dos representantes das associações de 24 países europeus; e 129 de pais, de 26 países diferentes.
The Needs of Play in Children with Disabilities. An Italian Research.
Obter um panorama das necessidades do brincar, desconsiderando o tipo de deficiência e buscando compreender os constrangimentos, as sugestões e os desafios do brincar para crianças com deficiência.
Trata-se do 4º eixo temático de um projeto guarda-chuva. Foi realizada pesquisa empírica por meio de dois questionários com perguntas abertas e fechadas.
116 alunos das 4 escolas de educação especial de Chiang Mai na Tailândia, sendo 30 alunos com deficiência física, 30 com deficiência intelectual, 30 com deficiência auditiva e 26 com deficiência visual, com idades entre 5 e 18 anos.
O projeto-piloto criou um robô semiautônomo que mostrou melhor engajamento das crianças nas terapias através de um dispositivo lúdico. Compreende-se que são necessárias pesquisas mais amplas com uma amostra mais abrangente e um número maior de sessões com o brinquedo.
Constatou-se que os diversos recursos de TA têm sido facilitadores para algumas populações com deficiências, mas ainda não são percebidos deste modo por todos os que necessitam dela, principalmente pelas dificuldades de acesso.
Para recreação, identificaram o uso de TA como facilitador, porém, muitos não tiveram a possibilidade de utilizá-la, com exceção dos deficientes visuais.
129 pais de crianças com deficiência de 26 países, e 75 responsáveis por associações de pessoas com deficiência de 24 países.
Neste estudo foi possível caracterizar as brincadeiras das crianças com deficiências e descrever onde, como e com quem acontecem e como elas se beneficiam do uso das TA para brincar, bem como as necessidades de tornar essas brincadeiras ainda mais acessíveis.
Assistive technology needs, functional difficulties, and services utilization and coordination of children with developmental disabilities in the United States
Fornecer um perfil sociodemográfico transversal descritivo de crianças com atrasos no desenvolvimento nos EUA e suas necessidades de acesso à TA;
Examinar a associação entre ter atraso no desenvolvimento, necessidade de TA, dificuldades funcionais, na utilização e na coordenação do serviço.
A pesquisa foi conduzida pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) e pelo Centro de Saúde Nacional de Estatísticas (NCHS).
Iniciada em 2001 continuou nos anos 2005 e 2006, 2009 e 2010.
A coleta dos dados foi através de entrevistas via telefone com pais e responsáveis pelas crianças, quando elas estavam em casa.
Tais questionários abrangiam três principais eixos em suas perguntas: se as necessidades de tecnologia assistiva eram atendidas relacionadas à visão, à audição, à mobilidade, à comunicação, e aos equipamentos médicos duráveis; sobre as dificuldades funcionais; e sobre a utilização e a coordenação dos serviços (cuidados médicos, saúde mental ou serviços educacionais).
Foram entrevistados 40.242 sujeitos, sendo 83,6% por telefone fixo, 76,6% por celular e 80,8% por amostra mista. Estavam incluídos responsáveis por crianças, de 0 a 17 anos, com e sem necessidades especiais de saúde, assim como crianças com condições específicas de deficiência e de desenvolvimento: deficiência intelectual, TEA, paralisia cerebral, atraso no desenvolvimento, síndrome de Down ou distrofia muscular.
Foram identificadas características sociodemográficas entre as crianças com deficiência, satisfação e acesso às TA.
Identificaram que há um acesso eficaz a dispositivos auxiliares de mobilidade e comunicação, acarretando em maior nível de independência na mobilidade e melhora na comunicação; que crianças com deficiências visuais e auditivas apresentam pior rendimento nas questões relacionadas à aprendizagem, necessitando intervenção precoce.
Há uma parcela de crianças que apresentam uma grande chance de ter sua funcionalidade comprometida pelas deficiências, porém têm bom acesso à tecnologia assistiva. Enquanto outra parcela de crianças e pais vivenciam as frustrações devido às dificuldades de acesso.
A frequência do uso da TA está diretamente relacionada ao engajamento nos processos terapêuticos e inclusivos e ao nível de satisfação.
O uso e o acesso adequado da tecnologia assistiva são extremamente importantes para ampliar a participação nas atividades de vida diária.
Fonte: Os autores, 2021.
Na
pesquisa conduzida por Lin e Gold (2017), esses autores visaram investigar se a tecnologia assistiva supria as demandas das crianças, quais as dificuldades funcionais e como se utilizavam os referidos serviços. Os autores concluíram que o uso de
tecnologia assistiva, no cotidiano da criança, é benéfico para sua funcionalidade. Para crianças com atraso no desenvolvimento, o nível de satisfação depois do uso da tecnologia assistiva referente aos dispositivos assistivos foi para a visão (97%), a audição (99%), a mobilidade (97%) e a comunicação (96%). Em “crianças com necessidades especiais”, a porcentagem para os mesmos dispositivos foi similar para a visão (98%) e a audição (100%), diferenciando para mobilidade (90%) e comunicação (89%). Apesar de esse estudo ser sobre o panorama dos Estados Unidos, ele contempla famílias de várias etnias, teve uma amostra significativa (40.242 pessoas) e apresentou resultados de diferentes realidades.
Zappaterra e Pisano (2017) enfocam mais diretamente no brincar e referem que ele, geralmente, é vinculado às instituições de ensino e a terapias e que os pais e outros adultos são as principais companhias para as brincadeiras das crianças com deficiência. Essa assertiva corrobora o dado relacionado à dificuldade de inclusão com seus pares e a presença de barreiras arquitetônicas para proporcionar um brincar de boa qualidade. Os familiares e os responsáveis por essas crianças já enxergam a importância da ludicidade para o desenvolvimento infantil, e esse é um ponto muito positivo abordado neste estudo. Quando há a correta adaptação por meio da tecnologia assistiva, a criança se engaja bem mais em suas atividades.
Estes mesmos autores asseveram, de acordo com os responsáveis pelas associações, que a maioria das crianças com deficiência dependem de um adulto para brincar; que há problemas no processo inclusivo; que o brincar se restringe geralmente aos ambientes institucionais e terapêuticos; que reconhecem o brincar como
muito importante para a interação social e requer um ambiente adaptado, com acesso aos recursos tecnológicos e a brinquedos adequados, políticas públicas e redução das barreiras atitudinais da população. Os profissionais participantes da pesquisa também reconhecem que, nos ambientes institucionais, o brincar é proporcionado entre as próprias crianças, porém, fora deles, restringe-se aos pais e há mais acesso aos recursos de alta tecnologia que proporcionam mais interação entre pais e cuidadores.
Na percepção dos pais participantes deste estudo, o brincar é fundamental para o desenvolvimento. Eles afirmam que, geralmente, o brincar ocorre em 51% das vezes nos ambientes internos (casa ou escola), 42%, tanto nos ambientes internos quanto externos (casa, escola, playgrounds, parques, centros esportivos), e 7% somente em ambiente externo. Dentre essas brincadeiras, 39% são realizadas com seus pais ou outros adultos, 35%, com amigos, e 26%, sozinhos. Apontam que é preciso haver mais interação entre outras crianças e acesso aos ambientes sem barreiras arquitetônicas para melhorar o desempenho dessa ocupação. Em relação ao tempo dedicado à brincadeira, 43% das crianças têm mais de duas horas; 23%, tem entre uma e duas horas; e 34% das crianças, menos de uma hora (ZAPPATERRA; PISANO, 2017).
Como pode-se perceber, o brincar para as crianças com deficiências, apesar de importante, depende de terceiros ou de ambientes adaptados e por muitas vezes ocorre em um tempo curto.
Em seu estudo, Lersilp, Putthinoi e Lersilp (2018) ao entrevistarem diversas crianças com diferentes necessidades sobre a funcionalidade e eficácia da tecnologia assistiva, constataram que os participantes percebem o uso da TA como facilitador quando
se refere à comunicação das crianças com deficiência, no entanto, isso ainda não é tão evidente em relação aos processos educacionais/de aprendizagem e metodologias de ensino. Enquanto para os aspectos recreativos/lazer, a maioria das crianças reconhecem a importância da tecnologia assistiva para promoção do engajamento nesta ocupação, entretanto, percebem que somente as crianças com deficiência visual são beneficiadas. Neste mesmo estudo, as crianças com deficiência física avaliaram que os ambientes adaptados são facilitadores para a participação em suas ocupações, porém a percepção das crianças com deficiência visual não foi a mesma, ao considerarem que ainda existem muitas barreiras arquitetônicas para tornar os ambientes acessíveis.
Conforme os resultados apresentados por Lersilp, Putthinoi e Lersilp (2018), é possível compreender que a tecnologia assistiva tem sido utilizada para promover um melhor engajamento e participação das crianças com deficiência em suas ocupações, porém isto ainda não ocorre de maneira equânime para as diversas demandas das crianças com deficiências ou atrasos no desenvolvimento. Ressalta-se ainda que referente à promoção do brincar, os entrevistados perceberam que há uma desigualdade de acesso à tecnologia assistiva que se torna facilitadora para a participação de todos nesta ocupação.
Clark et al. (2019) concordam com a ideia de que brincar é fundamental para o desenvolvimento infantil e pode tornar-se um facilitador para o desenvolvimento infantil, porque contribui para que a criança desenvolva habilidades psicomotoras, emocionais e sociais, portanto, consegue criar e interagir com o ambiente. Entretanto, Zappaterra e de Pisano (2017) apresentam que as
crianças com atraso no desenvolvimento ou com alguma deficiência encontram mais dificuldades para ter acesso ao brincar e a brinquedos, pela falta de materiais adequados, mas também por barreiras arquitetônicas e atitudinais.
Uma possibilidade apontada por Clark et al. (2019) é a de criar brinquedos adaptados, porquanto os brinquedos e o brincar são aspectos fundamentais para o desenvolvimento infantil, e os brinquedos conseguem atrair organicamente a atenção das crianças. Os autores acrescentam que estes brinquedos geralmente são adaptados em ambientes clínicos, com terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e fisioterapeutas.
TECNOLOGIA ASSISTIVA E O BRINCAR
A Tecnologia Assistiva facilita o cotidiano das crianças com deficiência, possibilita que tenham acesso aos instrumentos de vida diária, oferece suporte aos pais e aos cuidadores para o desempenho das atividades cotidianas de uma criança e lhes proporciona uma maneira de se incluírem em ocupações próprias dessa fase inicial da vida, para que possam brincar, estudar, aprender e interagir socialmente com a família, os educadores e seus pares.
No estudo de Lin e Gold (2017), foram apresentadas evidências sobre a importância da tecnologia assistiva para as crianças com deficiência. No entanto, uma limitação deste estudo, apontada em sua discussão, foi o fato de só terem sido aplicados questionários com os pais e com os responsáveis. Por essa razão, a perspectiva das crianças não foi evidenciada diretamente por meio de
observação ou de entrevistas com elas. Considerando a perspectiva dos adultos, foi identificada a independência das crianças nas atividades de vida diária, porém o enfoque não foi para o brincar.
De modo especial, em seus estudos, Zappaterra e Pisano (2017) asseveram que ainda existem muitas barreiras para o brincar natural de crianças com deficiência e o processo de inclusão com seus pares - crianças com ou sem deficiência. Convém ressaltar que é importante a sociedade perceber as limitações existentes no cotidiano de crianças com deficiência e lhes proporcionar um ambiente lúdico e acesso aos brinquedos e às brincadeiras com equidade, considerando que a independência nas atividades de vida diária é essencial e engloba o brincar na infância.
Ao pensar sobre os facilitadores e as barreiras para o acesso à tecnologia assistiva, podemos afirmar que ainda não há equidade no processo inclusivo de acesso e de uso desses recursos. Por isso, é necessário saber quais os aspectos que precisam ter melhor elaboração para proporcionar a acessibilidade de crianças com deficiências diversas nos contextos da comunicação, da aprendizagem, do lazer e dos ambientes adaptados (LERSILP, S; PUTTHINOI, S; LERSILP, T, 2018).
Os estudos analisados nesta revisão de literatura compreendem a importância do brincar para o desenvolvimento de todas as crianças, e que para proporcionar às crianças com deficiência a participação nesta ocupação tão significativa, é necessário proporcionar o acesso à ambientes inclusivos a todos e aos brinquedos adaptados, quando não for possível o engajamento nas atividades de lazer com uso de brinquedos tradicionais e ambientes
não adaptados. Desta maneira, reduzem-se as barreiras atitudinais e arquitetônicas e os prejuízos advindos pela ausência desta ocupação na infância. Tais resultados corroboram os achados da literatura que concebem a brincadeira como essencial para as crianças. Para as com deficiência, a brincadeira assume uma função de uma proporção ainda maior, por ser uma das maneiras de expressar e de tornar significativos os momentos vivenciados. Nesse sentido, compreende-se que o brincar é primordial e não deve ser apenas uma maneira de promover uma intervenção terapêutica ou a aprendizagem escolar. Por isso, é importante usar a ludicidade para o bom desempenho nos contextos clínicos e escolares, mas também nas atividades cotidianas das crianças (NISIFOROU; ZAPHIRIS, 2020).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir desta revisão de literatura, foi possível observar que é necessário compreender o desenvolvimento e o uso de dispositivos de tecnologia assistiva, visando promover o brincar de crianças com deficiência. Atualmente, os estudos apontaram que a tecnologia assistiva ainda é utilizada principalmente para fins terapêuticos, visando melhora no engajamento na terapia e melhor desempenho de habilidades específicas (marcha, coordenação motora, comunicação, aprendizagem escolar). Nessa perspectiva, compreende-se que a tecnologia assistiva pode facilitar a vida de muitas crianças com deficiência na participação em suas ocupações, na exploração do meio em que estão inseridas e de suas habilidades, como também na participação de atividades de
lazer. Apesar do acesso a estes recursos ainda não ser equânime dentre as diversas necessidades das pessoas com deficiência.
Neste estudo, não foi possível apresentar como resultado o detalhamento de quais são os equipamentos mais utilizados pelas crianças atualmente, embora, inicialmente, isso tenha sido planejado nos objetivos traçados. Sendo possível, a partir dos artigos selecionados através dos critérios de inclusão e exclusão, descrever os profissionais envolvidos no manejo de dispositivos de tecnologia assistiva e os contextos em que os recursos são utilizados e sua finalidade. Compreende-se o brincar como parte essencial da infância, por meio do qual a criança explora o contexto em que está inserida, compreende seu corpo e apreende habilidades motoras, físicas, cognitivas e sensoriais. É necessário que a ludicidade esteja presente em todas as ocupações da criança, porém também é importante sua participação nessa fase da vida em brincadeiras livres, em que o intuito da atividade seja simplesmente o de brincar.
Some-se a isso a escassez de pesquisas sobre o desenvolvimento e o uso dessa tecnologia visando proporcionar o lazer com mais participação e engajamento das crianças. Portanto, é necessário incentivar novas pesquisas que aprofundem o tema, visando o bem-estar das crianças com deficiência e outras que apresentem essas demandas.
REFERÊNCIAS
ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE TERAPIA
OCUPACIONAL - AOTA. Occupational Therapy Practice Framework Domain and Process Fourth Edition. The American Journal of Occupational Therapy, August 2020, Vol. 74, Suppl.2. Disponível em: <http://ajot.aota.org>. Acesso em: julho, 2021.
BERSCH, R. Introdução à tecnologia assistiva. ASSISTIVA • TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO Porto Alegre, 2017. Disponível em: http://www.assistiva.com.br/Introducao_ Tecnologia_Assistiva.pdf. Acesso em: Agosto de 2021
BRASIL. Subsecretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Comitê de Ajudas Técnicas. Tecnologia Assistiva. Brasília: CORDE, 2009.
CLARK, C. et al. Development and preliminary investigation of a semiautonomous Socially Assistive Robot (SAR) designed to elicit communication, motor skills, emotion, and visual regard (engagement) from young children with complex cerebral palsy: A pilot comparative trial. Advances in Human Computer Interaction, v. 2019, n. 1, p. 2614060, 2019.
CHIARELLO, L. A. et al. Determinants of playfulness of young children with cerebral palsy. Developmental neurorehabilitation, v. 22, n. 4, p. 240-249, 2018.
LERSILP, S.; PUTTHINOI, S.; LERSILP, T. Facilitators and barriers of assistive technology and learning environment for children with special needs. Occupational Therapy International, v. 2018, n. 1, p. 3705946, 2018.
LIN, S. C.; GOLD, R. S. Assistive technology needs, functional difficulties, and services utilization and coordination of children with developmental disabilities in the United States. Assistive Technology, v. 30, n. 2, p. 100-106, 2017.
NISIFOROU, E. A.; ZAPHIRIS, P. Let me play: unfolding the research landscape on ICT as a play-based tool for children with disabilities. Universal Access in the Information Society, v. 19, n. 1, p. 157-167, 2020.
OMS. Organização Mundial da Saúde. CIF-CJ.
Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2011.
RODRIGUES, L. M. A criança e o brincar. Monografia do Curso de Especialização em Educação Infantil: “desafios do trabalho cotidiano: a educação das crianças de 0 a 10 anos”, UFRRJ, 2009.
SERRANO, Paula. O desenvolvimento da autonomia dos 0 aos 3 anos: etapas, atividades e sinais de alerta. Papa-Letras, 1 ed., 2018.
ZAPPATERRA, T.; PISANO, P. The Needs of Play in Children with Disabilities. An Italian Research. Journal of Educational Sciences, v. 18, n. 2, p. 4-15, 2017.
AUTORES
Alessandra Cavalcanti - Docente do Departamento de Terapia Ocupacional da Universidade Federal do Triângulo Mineiro.
Docente convidada da Pós-Graduação em Desenvolvimento Infantil e Intervenção Precoce da Inclusão Eficiente.
Alice Wilken de Pinho - Terapeuta Ocupacional, Mestra e revisora da obra.
Amanda Gregorutti - Terapeuta Ocupacional, aluna do curso de Pós-graduação em Desenvolvimento Infantil e Intervenção Precoce da Inclusão Eficiente.
Amanda Vieira Soares Cunha - Terapeuta ocupacional pela Universidade de Brasília, aluna do Curso de Pós-graduação em Desenvolvimento Infantil e Intervenção Precoce da Inclusão Eficiente.
Amandah Oliveira Ferreira da Silva - Fisioterapeuta, aluna do curso de Pós-graduação em Desenvolvimento Infantil e Intervenção Precoce da Inclusão Eficiente.
Andressa Fernanda Jóia - Terapeuta Ocupacional - Mestra em Terapia Ocupacional, Professora, orientadora.
Angélica Cristina Sousa Fonseca Romeros - Fisioterapeuta, aluna do curso de Pós-graduação em Desenvolvimento Infantil e Intervenção Precoce da Inclusão Eficiente.
Ariane Hidalgo - Pedagoga, Mestra, prefaciadora e organizadora da obra.
Bárbara Helena de Brito Ângelo - Enfermeira, Doutora em Enfermagem, Orientadora.
Bibiana da Silveira dos Santos Machado - Fisioterapeuta, Mestre em Ciências da Reabilitação, Orientadora.
Camila Gonçalves Albuquerque - Terapeuta Ocupacional e aluna do curso de Pós-graduação em Desenvolvimento Infantil e Intervenção Precoce da Inclusão Eficiente.
Chenia Caldeira Martinez - Fonoaudióloga, Doutora em Ciências Médicas, Orientadora.
Cláudia Regina Cabral Galvão - Terapeuta ocupacional, Doutora em Ciências, docente da Universidade Federal da Paraíba e orientadora.
Déborah Gonçalves Furtado - Terapeuta Ocupacional e aluna do curso de Pós-graduação em Desenvolvimento Infantil e Intervenção Precoce da Inclusão Eficiente.
Gabriela Vieira - Terapeuta Ocupacional, aluna do curso de Pósgraduação em desenvolvimento infantil e intervenção precoce da Inclusão Eficiente.
Irakitan Marcos Tavares da Silva Filho - Terapeuta Ocupacional, aluno do curso de Pós-graduação em Desenvolvimento Infantil e Intervenção Precoce da Inclusão Eficiente.
Isabel Pires da Silva Gomes - Fisioterapeuta, aluna do curso de Pós-graduação em desenvolvimento infantil e intervenção precoce da Inclusão Eficiente.
Jacqueline Aparecida Borges Vieira - Terapeuta Ocupacional, aluna do curso de Pós-graduação em Desenvolvimento Infantil e Intervenção Precoce da Inclusão Eficiente.
José Sávio Vieira de Sá Júnior - Terapeuta Ocupacional, aluno do curso de Pós-graduação em Desenvolvimento Infantil e Intervenção Precoce da Inclusão Eficiente.
Luísa Alexandre Licursi - Terapeuta Ocupacional, discente da Pós-Graduação em Desenvolvimento Infantil e Intervenção Precoce da Inclusão Eficiente.
Mariana Maria Moura Montenegro - Terapeuta Ocupacional, aluna do curso de Pós-graduação em Desenvolvimento Infantil e Intervenção Precoce da Inclusão Eficiente.
Marcela Paula Conceição de Andrade Oliveira - Terapeuta Ocupacional, Mestre em Saúde da Criança e do Adolescente, Orientadora.
Natália Barbosa Soares da Costa - Terapeuta Ocupacional, pela Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, aluna do curso de Pós-graduação em Desenvolvimento Infantil e Intervenção Precoce da Inclusão Eficiente.
Paola R. Victoriano de Souza - Terapeuta Ocupacional, graduada pela Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, aluna do curso de Pós-graduação em Desenvolvimento Infantil e Intervenção Precoce da Inclusão Eficiente.
Pâmella Mansoldo Caixeta - Terapeuta Ocupacional, aluna do curso de Pós-graduação em Desenvolvimento Infantil e Intervenção Precoce da Inclusão Eficiente.
Raquel Pinheiro - Terapeuta Ocupacional, Mestra em Terapia Ocupacional, Orientadora.
Régis Nepomuceno Peixoto - Terapeuta Ocupacional, Mestre, Coordenador pedagógico da Pós-graduação em Desenvolvimento Infantil e Intervenção Precoce da Inclusão Eficiente e Organizador da obra.
Sara Buzanello - Fonoaudióloga, aluna do curso de Pósgraduação em Desenvolvimento Infantil e Intervenção Precoce da Inclusão Eficiente.
Sarah Junia Verçosa Quirino - Fonoaudióloga, aluna do curso de Pós-graduação em Desenvolvimento Infantil e Intervenção Precoce da Inclusão Eficiente.
Stéphani de Pol - Fisioterapeuta, Mestra, Coordenadora pedagógica da Pós-graduação em Desenvolvimento Infantil e Intervenção Precoce da Inclusão Eficiente e Organizadora da obra.
Stella Guerra de Amorim - Fisioterapeuta, Especialista em fisioterapia aquática com formação no Conceito Bobath, Coorientadora.
Tassianny Sousa Amorim - Terapeuta Ocupacional, aluna da Pós-Graduação em Desenvolvimento Infantil e Intervenção Precoce da Inclusão Eficiente.
Tássio Cunha Paes da Costa - Terapeuta ocupacional pela Universidade Federal de Sergipe, aluno do Curso de Pós-graduação em Desenvolvimento Infantil e Intervenção Precoce da Inclusão Eficiente.
Viviane Gurgel Moreira - Terapeuta Ocupacional, aluna do curso de Pós-graduação em Desenvolvimento Infantil e Intervenção Precoce da Inclusão Eficiente.
