ÁREA
MANUAL

ÁREA
MANUAL




Bacharela e licenciada em Letras pela Universidade de São Paulo (USP). Mestra e Doutora em Letras (Filologia e Língua Portuguesa) pela USP. É autora de coleções didáticas de Língua Portuguesa e atua como professora de Língua Portuguesa na rede particular de ensino.
Bacharela em Comunicação Social pela Faculdade Cásper Líbero. Pós-graduada no curso de especialização “O livro para a infância: processos contemporâneos de criação, circulação e mediação” pela Faculdade Conectada (Faconnect). Atua no mercado editorial e é professora particular de Língua Portuguesa. É autora de livros infantojuvenis.
Bacharela em Letras pela Universidade de São Paulo (USP). Mestra em Letras (Teoria Literária e Literatura Comparada) pela USP. Especialista em Psicopedagogia (Práticas educacionais e contextos de intervenção) pelo Instituto Singularidades. Atua como professora de Língua Portuguesa e como psicopedagoga.
ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS 1

Copyright © Claudia Bergamini, Lígia Maria Marques, Marília Westin, 2024
Direção-geral Ricardo Tavares de Oliveira
Direção de conteúdo e negócios Cayube Galas
Direção editorial adjunta Luiz Tonolli
Gerência editorial Roberto Henrique Lopes da Silva e Nubia de Cassia de M. Andrade e Silva
Edição Ana Luiza Martignoni Spínola (coord.)
Lilian Ribeiro de Oliveira, Roberta Donega Silva, Andreia Pereira
Preparação e revisão Maria Clara Paes (coord.)
Ana Carolina Rollemberg, Cintia R. M. Salles, Denise Morgado, Desirée Araújo, Eloise Melero, Kátia Cardoso,
Márcia Pessoa, Maura Loria, Veridiana Maenaka, Yara Affonso
Produção de conteúdo digital João Paulo Bortoluci
Gerência de produção e arte Ricardo Borges
Design Andréa Dellamagna (coord.)
Sergio Cândido (criação), Ana Carolina Orsolin, Andréa Lasserre, Laís Garbelini
Projeto de capa Sergio Cândido
Imagem de capa Willy Mobilo / Alamy / Fotoarena
Arte e produção Rodrigo Carraro (coord.)
Leandro Brito
Diagramação 2 Estúdio Gráfico
Coordenação de imagens e textos Elaine Bueno Koga
Licenciamento de textos Erica Brambila
Iconografia Erika Neves do Nascimento, Leticia dos Santos Domingos (trat. imagens)
Ilustrações André Ducci, Andrea Ebert, Carlos Caminha, Daniel Almeida, Felix Reiners, Flavio Remontti, Luciano Tasso, Sonia Vaz
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) (Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)
Bergamini, Claudia Língua Portuguesa Por Toda Parte: 1º ano. Claudia Bergamini; Lígia Maria Marques; Marília Westin. 1. ed. São Paulo: FTD, 2024.
Componente curricular: Língua Portuguesa. Área do conhecimento: Linguagens e suas Tecnologias.
ISBN 978-85-96-04682-4 (livro do estudante)
ISBN 978-85-96-04683-1 (manual do professor)
ISBN 978-85-96-04688-6 (livro do estudante HTML5)
ISBN 978-85-96-04689-3 (manual do professor HTML5)
1. Língua Portuguesa (Ensino médio) I. Marques, Lígia Maria. II. Westin, Marília. III. Título.
24-228238
Índices para catálogo sistemático:
CDD-469.07
1. Língua portuguesa : Ensino médio 469.07
Cibele Maria Dias - Bibliotecária - CRB-8/9427
Reprodução proibida: Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998. Todos os direitos reservados à
EDITORA FTD
Rua Rui Barbosa, 156 – Bela Vista – São Paulo – SP CEP 01326-010 – Tel. 0800 772 2300
Caixa Postal 65149 – CEP da Caixa Postal 01390-970 www.ftd.com.br central.relacionamento@ftd.com.br
Em respeito ao meio ambiente, as folhas deste livro foram produzidas com fibras obtidas de árvores de florestas plantadas, com origem certificada.
Impresso no Parque Gráfico da Editora FTD CNPJ 61.186.490/0016-33
Avenida Antonio Bardella, 300 Guarulhos-SP – CEP 07220-020 Tel. (11) 3545-8600 e Fax (11) 2412-5375

Caro estudante,
Esta coleção foi pensada e escrita para que sua vivência em uma nova fase de estudos – o Ensino Médio – seja repleta de conhecimento, curiosidade, experiências e práticas. O nosso objetivo é oferecer repertório e reflexões, para que, ao final desse percurso de estudos, você se sinta capaz de continuar sua trajetória educacional e seguir um caminho profissional, tornando-se consciente do protagonismo e da autonomia conquistados.
A literatura, nesta coleção, apresenta-se como uma ferramenta de diálogo entre diversos contextos históricos e visões de mundo. O trabalho proposto explora o campo de atuação social artístico-literário por meio de uma perspectiva intertextual, compreendendo a conexão entre as diferentes estéticas literárias em língua portuguesa e proporcionando uma reflexão crítica sobre o modo como as relações de poder se estabelecem entre diferentes obras, autores ou contextos de produção.
O estudo dos gêneros textuais procura incentivar a sua interação com uma diversidade de textos orais, escritos, multissemióticos e multimodais utilizados em situações comunicativas igualmente variadas. A proposta é a de que esse estudo perpasse pela análise do conteúdo temático, do estilo, da construção composicional e do contexto de produção de cada gênero textual, incentivando a compreensão de diferentes funções e propósitos do uso da língua.
Esse percurso didático é permeado pela língua e pela linguagem. Por isso, propomos a análise linguística de textos que proporcionem a você a compreensão não somente da norma-padrão mas também dos usos dos conhecimentos linguísticos como um instrumento de poder e de legitimação de discursos que permita a você participar da sociedade de forma proficiente, por meio da produção de textos orais e escritos.
Convidamos você a participar das propostas de estudo com dedicação e presença efetiva, a fim de garantir a aprendizagem significativa de todas essas experiências escolares.
As autoras
Os volumes desta coleção são organizados em seis capítulos. No início de cada um deles, a Abertura traz uma imagem e atividades que se relacionam com o tema a ser desenvolvido. Nessa abertura, você encontrará o boxe

Projeto em vista, que visa dar dicas sobre etapas da seção
Oficina de Projetos, presente ao final do livro, e apresenta os principais campos de atuação social da Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) e os Temas Contemporâneos Transversais (TCTs) abordados no capítulo.


Os capítulos são organizados em quatro seções principais que buscam ampliar e aprofundar seu repertório em relação aos principais eixos do ensino de Língua Portuguesa: Estudo Literário, Estudo do Gênero Textual, Estudo da Língua e Oficina de Texto.

Literário e Diálogos
A seção Estudo
Literário tem o objetivo de apresentar textos de diferentes épocas literárias, trazendo atividades de reflexão, interpretação e análise. Na subseção Diálogos, você terá oportunidade de conhecer textos mais contemporâneos e estabelecer relações entre os momentos literários abordados.

Textual e Diálogos
Mais adiante, a seção Estudo do Gênero Textual apresenta uma diversidade de gêneros textuais, proporcionando um aprofundamento em textos de diversos campos de atuação social. Nesse caso, a subseção Diálogos busca apresentar textos que estabeleçam relações importantes com o gênero textual estudado.
A seção Estudo da Língua apresenta, de modo reflexivo, os diversos conhecimentos linguísticos depreendidos de textos das diversas práticas sociais, para aprimorar e aprofundar seu conhecimento quanto aos usos da língua.

Literária e Oficina de Texto
As seções Oficina Literária e Oficina de Texto têm como objetivo propor produções de escrita e de oralidade para você pôr em prática os conhecimentos adquiridos ao longo do capítulo.




Conexões com é a seção que busca integrar os conhecimentos de Língua Portuguesa com outros componentes curriculares.
Neste volume, você também vai encontrar diversos boxes.
PRIMEIRO OLHAR
Primeiro olhar antecipa hipóteses e conhecimentos prévios acerca do texto que será lido.
Biografia apresenta um pequeno texto sobre autores e artistas que aparecem no capítulo.
Buscar referências apresenta indicações culturais diversas.
AMPLIAR
Na seção Oficina de Projetos, você terá a oportunidade de realizar, com seus colegas, etapas, procedimentos e ações para construir, de modo coletivo, um produto relevante para seu crescimento pessoal e para a vida em comunidade.
Por fim, as seções Estudo em Retrospectiva e De olho no Enem e Vestibular buscam finalizar o capítulo com o objetivo de promover uma autoavaliação dos conhecimentos propostos no capítulo, além de proporcionar a compreensão e a prática de atividades do Enem e de vestibulares de renome no país.
Os ícones a seguir identificam os diferentes tipos de objetos educacionais digitais presentes neste volume. Esses materiais digitais apresentam assuntos complementares ao conteúdo trabalhado na obra, ampliando a aprendizagem.
Ampliar acrescenta informações importantes relacionadas ao assunto em estudo.
RETOMADA
Conceito e Retomada trazem os conceitos mais importantes do capítulo.
REFLETIR E ARGUMENTAR
Refletir e argumentar busca auxiliar na ampliação de seus conhecimentos por meio da argumentação.
MUNDO do TRABALHO
Mundo do trabalho tem o objetivo de apresentar diferentes profissões.
ENTRE GÊNEROS
Entre gêneros estabelece relações entre gêneros textuais do capítulo ou entre estes e outros vistos anteriormente.
Os sites indicados nesta obra podem apresentar imagens e eventuais textos publicitários junto ao conteúdo de referência, os quais não condizem com o objetivo didático da coleção. Não há controle sobre esses conteúdos, pois eles estão estritamente relacionados ao histórico de pesquisa de cada usuário e à dinâmica dos meios digitais.
Estudo Literário – Quinhentismo 10

Carta ao rei D. Manuel, Pero Vaz de Caminha ......... 10
Diálogos Expressão literária indígena 15
“Suspiro de Gaia”, Ailton Krenak 15
Conexões com História – Formação dos quilombos no Brasil 19
Estudo do Gênero Textual – Roteiro de podcast ......... 21
“A ciência é para todos“ (Podcast Ciência Suja) 21
Diálogos A união entre jornalismo e ciência 29
“Discurso jornalístico e discurso científico” (
Estudo da Língua – Conceitos fundamentais do estudo linguístico
Diálogos Os diferentes saberes
de floresta“, Tiago Hakiy
Estudo do Gênero Textual – Infográfico 58
“De onde vem o guaraná. E onde ele é produzido”, Gabriel Zanlorenssi, Giovanna Hemerly e Mariana Froner (Nexo) 58
Diálogos O hipertexto e a rede de informações 66
“Os filhos do guaraná”, Sônia da Silva Lorenz (Povos Indígenas do Brasil) 66
Conexões com Matemática – Análise de gráficos em provas
da Língua – Multiletramentos
Oficina Literária – Voz narrativa no romance 140
Conexões com Arte – O olhar sobre o indígena 142
Estudo do Gênero Textual – Resenha crítica 143
“‘O som do rugido da onça’: Um romance assombroso e com ferocidade animal“, Stefania Chiarelli (O Globo) 143
Diálogos Mensagem eletrônica – A democratização da opinião do leitor 152
Postagem em rede social de Marina Silva 152

Estudo da Língua – Verbos – Parte I 153
Modo indicativo e seus tempos ............................ 154
Classificação dos verbos ..................................... 156
Vozes verbais 157
Sintagma verbal 158
A língua em uso 159
Atividades ......................................................... 159
Oficina de Texto – Resenha crítica 160
Estudo em Retrospectiva 163
De olho no Vestibular 164
Diversidades e identidades nas práticas sociais ............ 166
Estudo Literário – A mulher negra na poesia contemporânea 168
“Nunc obdurat et tunc curat ”, Jarid Arraes 168
Diálogos Expressões poéticas da juventude 174
“Eu gostaria de escrever sem estar com raiva”, Midria .............................................................. 175
Conexões com Biologia – Mulheres negras na ciência 179
Estudo do Gênero Textual – Relato de experiência vivida 181
Quando me descobri negra, Bianca Santana 181
Diálogos O relato da experiência vivida por meio da escrita 188
A viagem inútil, Camila Sosa Villada 188
Estudo da Língua – Verbos – Parte II 190
Modo subjuntivo ............................................... 190
Subjuntivo como modalizador textual ................... 193
Voz passiva e modalização 194
A língua em uso 195
Modo imperativo 196
Modalização do imperativo 197
Atividades 198
Oficina de Texto – Relato de experiência vivida 200
Estudo em Retrospectiva 202 De olho no Vestibular 203
CAPÍTULO
Estudo Literário – A memória na literatura negra contemporânea 206
“Os pés do dançarino”, Conceição Evaristo 206 Diálogos Rap e literatura 211
“A coisa tá preta”, Rincon Sapiência 212
Oficina Literária – Conto ...................................... 215
Conexões com Sociologia – Juventude negra, consciência e memória 217
Estudo do Gênero Textual – Discurso de posse 219
Discurso de posse de Fernanda Montenegro na Academia Brasileira de Letras 219
Diálogos As marcas de dois discursos 229
“‘Eu tenho um sonho’: há 55 anos, Martin Luther King proferia discurso histórico” (Brasil de Fato) 229
Estudo da Língua – Figuras sonoras: onomatopeia, aliteração, assonância e paronomásia
Variação linguística: conceito e tipos
A língua em uso
231
233
236 Atividades
Oficina de Texto – Discurso de posse
237
238
Estudo em Retrospectiva 240
De olho no Vestibular
241
Oficina de Projetos – Agência de checagem de notícias 242
Referências bibliográficas comentadas 253
Vídeo: Tradição oral na literatura brasileira 15
Podcast: Ciência na mídia: novos desafios 29
Carrossel de imagens: Diferentes saberes 52
Mapa clicável: As quatro línguas mais faladas no mundo em 2024 113
Podcast: Nós falamos português ou pretuguês? 113
Vídeo: Comunidades linguísticas no Brasil 116
Infográfico clicável: Realismo animista
138
Infográfico clicável: Foco narrativo 140
Vídeo: Registrar e compartilhar experiências 181
Carrossel de imagens: Diários na literatura 189
Podcast: Sobrevivendo no inferno: um clássico do rap brasileiro 213
Infográfico clicável: Discurso político 238

Com base em seus conhecimentos e na obra produzida por integrantes do Movimento dos Artistas Huni Kuin (Mahku), responda às questões a seguir.
1. Quais elementos mais chamaram a sua atenção ao observar a obra? Como você interpreta esses elementos, considerando sua perspectiva e suas experiências culturais?
2. A obra dos artistas huni kuin apresenta imagens que valorizam a identidade cultural desse povo. Em sua opinião, como a representação de diferentes culturas e grupos minoritários é tratada na literatura brasileira? Você pode dar exemplos de como esses grupos são representados, tanto de forma positiva quanto negativa?
3. A representação cultural pode ser divulgada de muitas maneiras, por meio da arte –como na imagem –, da literatura, dos textos científicos e midiáticos etc. Como podcasts, especificamente, podem contribuir para a disseminação cultural dos povos indígenas?
4. O Brasil é um país com uma rica diversidade linguística, incluindo muitas línguas indígenas que enfrentaram desafios históricos, como a supressão e a marginalização ao longo dos séculos. Com base nisso, como você avalia o espaço e o papel das línguas indígenas no país atualmente?
1. Respostas pessoais. Espera-se que os estudantes realizem descrições e interpretações da obra a partir da observação da imagem e de seu repertório, identificando como temática principal a narrativa do mito huni kuin relacionada ao surgimento da bebida sagrada nixi pae. Além dos elementos da obra, espera-se que eles utilizem conhecimentos prévios e as informações apresentadas na legenda.

2. Respostas pessoais. Espera-se que os estudantes apresentem exemplos de representações positivas e negativas, refletindo a diversidade de experiências e visões encontradas na literatura. É importante considerar que a representação de grupos minoritários pode variar amplamente e que há exemplos de representações tanto estereotipadas quanto respeitosas.

• C ampo artístico-literário
• C ampo das práticas de estudo e pesquisa
Transversal
• Multiculturalismo: Educação para a valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais brasileiras
3. Os podcasts, como mídias em áudio, possibilitam a reprodução de aspectos orais da cultura, o que, no caso dos povos indígenas, contribui para a disseminação de suas tradições, seus modelos, suas narrativas, entre outros aspectos que formam as culturas ágrafas e sedimentadas na oralidade.
Avance até as páginas finais deste volume e faça uma leitura completa da Oficina de projetos , conhecendo em detalhes o tema e os passos que deverão ser seguidos para a construção de uma agência de checagem de notícias. Em seguida, inicie a primeira etapa do projeto, “Estudar a proposta”.
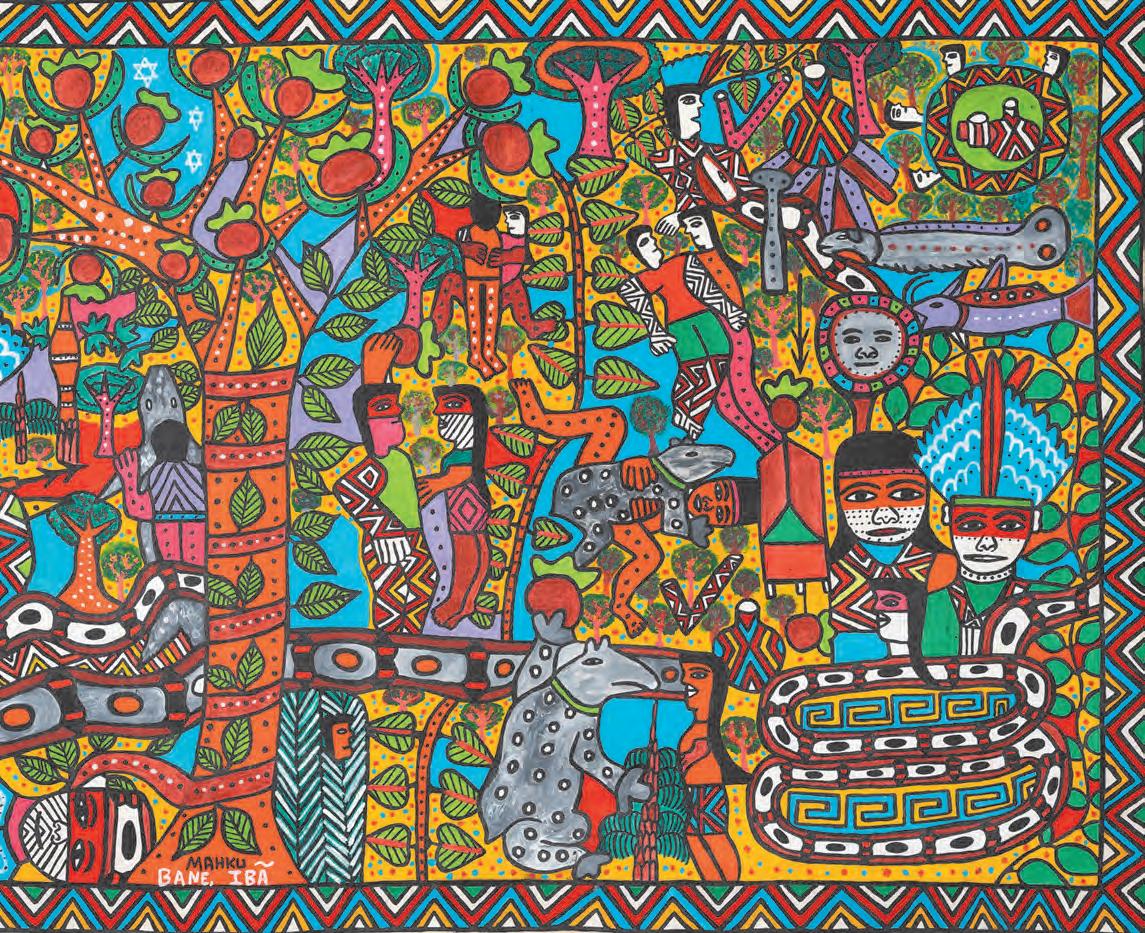
4. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes discutam a situação atual das línguas indígenas no Brasil, levando em consideração os esforços de movimentos culturais e de políticas públicas para preservação e valorização dessas línguas. A resposta deve refletir o conhecimento prévio do estudante sobre o reconhecimento e a continuidade das línguas indígenas na sociedade contemporânea.
■ KUIN, Ibã Huni et al. Yube Inu Yube Shanu [Mito do surgimento da bebida sagrada nixi pae]. 2020. Acrílica sobre tela, 122,5 cm × 207,5 cm. Museu de Arte de São Paulo.

Pero Vaz de Caminha foi um fidalgo e escrivão português que a companhou a expedição de Pedro Álvares Cabral. Pouco se sabe sobre a sua vida privada. Antes de acompanhar a expedição p ortuguesa, em 1476, Caminha foi mestre da balança da Casa da Moeda; em 1497, foi n omeado vereador da Câmara Municipal do Porto pelo rei de Portugal, D. Manuel I

■ Retrato do autor.
MELLO, Francisco Aurélio de Figueiredo e. Pero Vaz de Caminha lê a carta endereçada a Dom Manuel I. 1900. Mural pintado a óleo, 57 cm × 45 cm. Palácio Tiradentes, Rio de Janeiro (RJ).
estimar: fazer menção de. fuso: bobina de madeira. roque: torre do xadrez. corredio: liso. tosquia: corte de cabelo. sobrepente: acima da sobrancelha.
solapa: cobertura formada pelo cabelo, como uma franja. fonte: cada um dos lados da testa.
coto: medida do cotovelo à mão, aproximadamente dois palmos.
toutiço: nuca.
Respostas pessoais. Espera-se que os estudantes reconheçam que as descrições poderão apresentar elementos próprios do território em que hoje se encontra Porto Seguro – como a paisagem, a vegetação e a riqueza natural.
Você lerá um trecho da Carta ao rei D. Manuel escrita pelo escrivão português Pero Vaz de Caminha (1450-1500) no contexto da chegada dos portugueses ao território hoje conhecido como Brasil. A carta foi redigida em 1500 no atual município de Porto Seguro, no estado da Bahia. É tida como o primeiro registro escrito sobre as características naturais do território e de seus habitantes originários. Ela apresenta detalhes da viagem expedicionária do navegador português Pedro Álvares Cabral (1467-1520), relata o primeiro contato dos portugueses com os indígenas e discorre sobre as possibilidades econômicas que o território oferecia para o reino de Portugal.
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor
Antes de iniciar a leitura da carta, discuta com os colegas as questões a seguir.
• Com base em seu repertório pessoal e em seus conhecimentos de História do Brasil, como você imagina que o território que viria a ser o Brasil será descrito na carta de Pero Vaz de Caminha? Explique.
• Ainda com base em seus conhecimentos, como você acredita que os indígenas serão descritos pelo autor no decorrer da carta? Discuta sua resposta com a turma.
A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem-feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura. Nem estimam nenhuma coisa cobrir nem mostrar suas vergonhas; e estão acerca disso com tanta inocência como têm em mostrar o rosto. Traziam, ambos, os beiços de baixo furados e, metidos por eles, ossos. Ossos brancos, do comprimento duma mão travessa, da grossura dum fuso de algodão, agudos na ponta como furador. Metem-nos pela parte de dentro do beiço; e o que lhes fica entre o beiço e os dentes é feito como um roque de xadrez, e em tal maneira o trazem ali encaixado que não os magoa, nem lhes estorva a fala, nem comer, nem beber.
Os cabelos seus são corredios , e andavam tosquiados, de tosquia alta, mais que de sobrepente, de boa grandura e rapados até por cima das orelhas. E um deles trazia por baixo da solapa , de fonte a fonte para detrás, uma maneira de cabeleira de penas de ave amarelas, que seria do comprimento de um coto, muito basta e muito cerrada, que lhe cobria o toutiço e as orelhas. A qual andava pegada nos cabelos, pena e pena, com uma confeição branda como cera, e não no era. De maneira que andava a cabeleira muito redonda e muito basta, e muito igual, e não fazia míngua mais lavagem para a levantar. Respostas pessoais. Espera-se que os estudantes reconheçam as diferenças entre os portugueses e os indígenas tanto do ponto de vista físico quanto do cultural. Durante a discussão, é importante incentivar os estudantes a desenvolver um pensamento crítico sobre a forma como essas diferenças podem se manifestar na carta, tendo em vista o contexto da colonização portuguesa.
O Capitão, quando eles vieram, estava assentado em uma cadeira, uma alcatifa aos pés por estrado, e bem-vestido, com um colar de ouro muito grande ao pescoço. Sancho de Tovar, Simão de Miranda, Nicolau Coelho, Aires Correia, e nós outros que aqui na nau com ele imos, assentados no chão, por essa alcatifa. Acenderam-se tochas; entraram e não fizeram nenhuma menção de cortesia, nem de falar ao Capitão nem a ninguém. Porém um deles pôs olho no colar do Capitão, e começou de acenar com a mão para a terra e depois para o colar. Como que nos dizia que havia em terra ouro. E também viu um castiçal de prata, e assim mesmo acenava para a terra e então para o castiçal, como que havia também prata.
[…]

Viu um deles umas contas de rosário, brancas; acenou que lhas dessem, folgou muito com elas, e lançou-as ao pescoço. Depois tirou-as e enrolou-as no braço e acenava para a terra e então para as contas e para o colar do Capitão, como que dariam ouro por aquilo.
Isto tomávamos nós assim por o desejarmos; mas se ele queria dizer que levaria as contas e mais o colar, isto não queríamos nós entender, porque não lho havíamos de dar. E depois tornou as contas a quem lhas dera. […]
[…]
[…] E, segundo o que a mim e a todos pareceu, esta gente não lhes falece outra coisa para ser toda cristã, senão entender-nos, porque assim tomavam aquilo que nos viam fazer, como nós mesmos, por onde nos pareceu a todos que nenhuma idolatria, nem adoração têm. E bem creio que, se Vossa Alteza aqui mandar quem mais entre eles devagar ande, que todos serão tornados ao desejo de Vossa Alteza. E por isso, se alguém vier, não deixe logo de vir clérigo para os batizar, porque já então terão mais conhecimento de nossa fé pelos dois degredados que aqui entre eles ficam, os quais hoje também comungaram ambos. […]
alcatifa: tapete grande. estrado: estrutura plana construída para formar um piso elevado. rosário: colar com 165 contas que representam orações no catolicismo. folgar: divertir-se. degredado: exilado, aquele que foi obrigado a viver fora do país de origem.
comungar: receber o sacramento católico da comunhão.

chã: plano.

Respostas pessoais. Na carta, os indígenas são descritos como pessoas que não utilizavam roupas, tinham cabelos lisos e usavam adereços nos lábios e enfeites de penas na cabeça.
Respostas pessoais.
Durante a explicação, espera-se que os estudantes reconheçam que a natureza do Brasil é descrita como ampla, vasta e repleta de árvores, com clima agradável e
Respostas pessoais.
Durante a explicação, espera-se que os estudantes percebam que as descrições da natureza revelam que o interesse dos portugueses em relação ao território brasileiro é a exploração de recursos naturais, evidenciada pela procura por ouro e prata, e a utilização da terra para plantio, evidenciada pelo trecho “querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem”.
[…]
Esta terra, Senhor, me parece que da ponta que mais contra o sul vimos até outra ponta, que contra o norte vem, de que nós deste porto houvemos vista, será tamanha que haverá nela bem 20 ou 25 léguas por costa. Traz, ao longo do mar, nalgumas partes, grandes barreiras, delas vermelhas, delas brancas; e a terra por cima toda chã e muito cheia de grandes arvoredos. De ponta a ponta, é toda a praia uma palma, muito chã e muito formosa.
Pelo sertão nos pareceu, do mar, muito grande, porque, a estender os olhos, não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa.
Nela, até agora, não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem nenhuma coisa de metal nem de ferro; nem lho vimos. Porém a terra em si é de muito bons ares, assim frios e temperados, como os de Entre-Douro-e-Minho, porque neste tempo de agora os achávamos como os de lá.
Águas são muitas, infindas. E em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem.
Porém o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar esta gente, e esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar.
BRAGA, Rubem. Carta ao rei D. Manuel. [Adaptado da obra de] Pero Vaz de Caminha. Ilustrações: Maurício Veneza. Rio de Janeiro: BestBolso, 2015. E-book. Localizável em: parte 1.
1. O modo como os indígenas são retratados nos parágrafos iniciais da carta se assemelha ao que foi discutido por você e seus colegas nas atividades propostas no boxe Primeiro olhar? Justifique.
2. Ao longo da carta, o autor destaca informações sobre a paisagem do território no qual aportou. Tendo em vista essas informações, responda às questões a seguir.
a) O modo como a natureza é descrita nesses parágrafos corresponde ao que foi imaginado por você durante a realização das atividades do boxe Primeiro olhar? Explique.
b) Em sua opinião, tais informações permitem ao leitor identificar qual seria o interesse dos portugueses pelo território onde hoje fica o Brasil? Justifique.
A carta escrita por Pero Vaz de Caminha em 1500 é considerada um documento histórico importante da época da expansão marítima portuguesa, porém ela ficou guardada por muitos anos junto aos documentos régios portugueses, vindo a público no início do século XIX. Ao longo do tempo, a carta recebeu diversas versões e edições, sendo publicada com vários títulos, como Carta ao rei D. Manuel, Carta de achamento do Brasil, A Carta, entre outros. Essas diferenças são possíveis, já que o gênero carta não exige um título, ficando a encargo da pessoa que edita o documento a decisão de nomeá-lo.
3. Analise o título dessa publicação da carta de Pero Vaz de Caminha.
a) Quem é o destinatário da carta, ou seja, a quem a carta foi enviada?
A carta foi enviada ao rei D. Manuel.
b) De que modo essa informação contribui para a compreensão da carta? Explique.
Espera-se que os estudantes percebam que reconhecer o destinatário da carta ajuda o leitor a acessar seus conhecimentos prévios e, com base neles, relacionar a carta ao seu contexto de produção, facilitando o processo de leitura e a interpretação das informações.
4. b) Respostas pessoais. Espera-se que os estudantes reconheçam que a escolha de tais palavras objetivam enfatizar a abundância das águas brasileiras. O autor da carta utiliza o exagero como recurso linguístico, expresso pelo termo infindas, para criar uma imagem de riqueza natural. É possível que os estudantes reconheçam que a escolha dos termos parece ter sido proposital, com o intuito de direcionar a imaginação do leitor para a compreensão de que, nas terras brasileiras, as águas nunca se esgotam.
4. Releia o trecho a seguir, retirado da carta de Pero Vaz de Caminha. Águas são muitas, infindas. E em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem.
a) No trecho, o escrivão faz uso de algumas palavras para atribuir características ao termo águas. Transcreva, no caderno, tais palavras
As palavras são muitas e infindas.
b) De que maneira as palavras escolhidas para descrever o termo águas direcionam a imaginação do leitor? Em sua opinião, esse direcionamento foi elaborado de propósito pelo autor da carta? Identifique por quais motivos ele pode ter utilizado esse recurso linguístico.

Estudo da literatura
A literatura é uma forma de expressão artística que se dá principalmente pela linguagem verbal, escrita ou oral. Em textos literários, as palavras são escolhidas de modo a gerar sensações, criar imagens mentais e envolver o leitor. Para facilitar o estudo dessa área, os textos literários são categorizados em movimentos literários. Textos de um mesmo movimento costumam apresentar características semelhantes entre si, refletindo o modo como o pensamento se organizava no período histórico e social em que foram escritos. A semelhança entre características literárias de diferentes autores, mas associados ao mesmo movimento, está atrelada ao contexto de produção, evidenciando organizações políticas, sociais, territoriais e pessoais. Características consideradas comuns a determinado movimento podem ser resgatadas por autores associados a outros movimentos literários, mesmo que sejam de diferentes períodos históricos, e desenvolvidas propositalmente a partir de outra estética literária, estabelecendo diálogos entre obras.
5. A carta de Caminha foi produzida com a finalidade informativa, relatando a expedição marítima e as características do território alcançado. No entanto, devido a alguns aspectos da carta, ela também é reconhecida por sua relevância histórica e literária. Em sua opinião, quais aspectos da carta contribuem para essa valorização literária? Explique no caderno e, em seguida, compartilhe sua resposta com os colegas.
A divisão da literatura em movimentos literários é, muitas vezes, um recurso didático. Muitos deles foram estabelecidos em momento posterior ao da produção das obras literárias que os representam, com o intuito de facilitar o estudo e a identificação de contextos de produção e de características literárias. O Quinhentismo (1500-1601) é um exemplo disso, já que os textos relacionados a esse movimento foram escritos com outras finalidades, como a comunicativa ou a catequizadora. Os autores representantes desse período não pensaram em seus textos a partir de uma estética preestabelecida, mas sim de acordo com sua função social. Por estarem inseridos em um mesmo contexto, é possível identificar características comuns, como linguagem e ponto de vista social. Por outro lado, há movimentos que foram pensados e organizados por seus representantes, como é o caso do Romantismo, no século XIX.
O Quinhentismo foi considerado como movimento literário séculos após a composição dos textos que o representam. O período foi assim denominado com a intenção de reunir manifestações textuais de autores portugueses sobre o território que viria a ser o Brasil. Essa manifestação literária é composta de três vertentes: as narrativas de viagem, a Literatura de Catequese e a Literatura de Informação, da qual a carta de Caminha é exemplo.
Literatura de Catequese
A Literatura de Catequese compreende os textos escritos por padres jesuítas para a evangelização dos indígenas no período colonial. Ela é composta de peças de teatro, poemas religiosos e textos de catecismo. Um de seus maiores representantes foi o padre jesuíta espanhol José de Anchieta (1534-1597).
5. Respostas pessoais. Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
7. b) Os portugueses compreendiam os gestos dos indígenas conforme lhes convinha, explicitando o ponto de vista de que os colonizadores pretendiam lucrar às custas dos indígenas, além de mostrar que estes não estavam dispostos a dar itens sem receber nada em troca. O trecho que explicita isso é: “Isto tomávamos nós assim por o desejarmos; mas se ele queria dizer que levaria as contas e mais o colar, isto não queríamos nós entender, porque não lho havíamos de dar. E depois tornou as contas a quem lhas dera”.
A Literatura de Informação é composta de textos em prosa, principalmente cartas e crônicas, que visavam relatar as características do território a ser apropriado. Devido ao seu caráter informativo, alguns pesquisadores reconhecem tais manifestações como puramente históricas. Entretanto, outros observam que esses escritos representam a paisagem, os indígenas e os primórdios do processo de colonização do território.
Os recursos temáticos e estéticos do Quinhentismo, além do estilo de escrita utilizado pelos autores da época, ajudaram a disseminar uma visão estereotipada e colonizadora sobre o território brasileiro e seus habitantes originários. Tal visão é perceptível na produção literária de autores de movimentos literários subsequentes, como o Romantismo, que revisitou a formação da nação brasileira a partir da figura do indígena do tempo pré-colonial.

O Karaíba: uma história do pré-Brasil

■ Capa do livro.
O livro, escrito por Daniel Munduruku (1964-) e publicado pela primeira vez em 2010, apresenta uma perspectiva ficcional de como seria o Brasil antes da chegada dos portugueses. A obra busca repensar a história do território por meio do olhar do indígena, valorizando sua organização social, política e cultural.
MUNDURUKU, Daniel. O Karaíba: uma história do pré-Brasil. Ilustrações: Mauricio Negro. São Paulo: Melhoramentos, 2018. Capa. REPRODUÇÃO/MELHORAMENTOS
7. a) Os gestos foram utilizados como recurso de comunicação, conforme demonstra o trecho: “Porém um deles pôs olho no colar do Capitão, e começou de acenar com a mão para a terra e depois para o colar. Como que nos dizia que havia em terra ouro”.
6. No terceiro parágrafo do texto, é evidenciado que os indígenas não reconheceram o Capitão como uma figura hierárquica.
a) Transcreva, no caderno, um trecho que comprove essa afirmação.
b) O que o trecho transcrito sugere sobre o modo de organização dos indígenas na percepção dos portugueses? Levante hipóteses e explique-as.
6. a) “não fizeram nenhuma menção de cortesia, nem de falar ao Capitão nem a ninguém.”
Reúna-se com um colega para responder à questão 7.
7. O contato inicial entre os portugueses e os indígenas é descrito nos parágrafos 3 a 5 do texto.
a) Quais estratégias foram utilizadas para estabelecer a comunicação entre eles? Justifique com um trecho da carta.
b) O narrador da carta indica o modo como os portugueses interpretavam os gestos dos indígenas, revelando o ponto de vista do colonizador. Qual é esse ponto de vista? Indique, no caderno, o trecho do texto que explicita essa informação.
c) Para você e seu colega, no contexto da carta, qual é a importância de explicitar todas essas informações sobre o diálogo e as interpretações dos portugueses? Justifique.
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
Eurocentrismo na Literatura de Informação
Em textos representantes da Literatura de Informação, os habitantes indígenas são retratados a partir de uma visão eurocentrada. Essa visão tem como base o modelo europeu de pessoa, vestimenta, crenças, cultura etc. e desconsidera outros modos de ser, outras aparências, outras subjetividades, outras culturas e outras crenças. Assim, compreende-se que a visão eurocêntrica é uma ideologia que considera as civilizações europeias superiores às demais civilizações, marginalizando e inferiorizando outras culturas e crenças. Nessa perspectiva, os aspectos geográficos e naturais da paisagem do território que viria a ser o Brasil são descritos com um enfoque colonizador, direcionado à exploração e ao aproveitamento dos recursos pela futura colônia portuguesa.
6. b) Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
1. a) Resposta pessoal. É importante que os estudantes reconheçam que o poema pode se relacionar a diferentes massacres sofridos pelos povos indígenas desde a colonização, além de revelar o desequilíbrio entre relações humanas e a natureza.
8. a) A percepção de Pero Vaz de Caminha sobre as crenças indígenas é a de que eles não apresentavam crenças religiosas e, portanto, precisavam ser batizados pela Igreja Católica a fim de encontrarem a salvação.
8. Observe o modo como a temática religiosa é abordada na carta e responda às questões a seguir.
a) Segundo a carta, qual é a percepção de Pero Vaz de Caminha sobre as crenças dos indígenas? Explique.
b) Releia o último parágrafo da carta. Que ponto de vista sobre religião o autor evidencia ao afirmar que a salvação dos indígenas é o melhor a se fazer no território aportado? Explique e, em seguida, compartilhe sua opinião a respeito dessa afirmação.
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor.

9. Releia a carta e reflita sobre o modo como os indígenas que habitavam o atual território brasileiro são apresentados. Em seguida, elabore, no caderno, um parágrafo expondo essa reflexão.
9. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes reflitam sobre o modo como os portugueses descreviam os costumes indígenas, ressaltando as diferenças de comportamento e de caracterização e fazendo suposições sobre serem pessoas sem crenças religiosas e com organização social precária.
Nesta seção, será apresentado o poema “Suspiro de Gaia”, escrito pelo autor indígena Ailton Krenak (1953-). Em sua produção literária, o autor busca valorizar a história e as identidades culturais dos povos indígenas.
1. b) Respostas pessoais. É possível que os estudantes apontem que o tema não teria o mesmo efeito de sentido, pois, enquanto o texto não literário tenderia a ser mais objetivo, o texto literário seria mais subjetivo.
1 Está difícil dormir com tanto fantasma
2 ao redor
3 Corpos abandonados em pavilhões
4 Espíritos de luz projetam raios paralisantes.
5 A Terra balança levemente os cabelos
6 devolve no cosmos fagulhas de estrelas
Gaia: deusa mitológica que representa o planeta Terra.
KRENAK, Ailton. Suspiro de Gaia. In: POESIA Indígena Hoje, [s. l.], n. 1, p. 83, ago. 2020. p. 83. Disponível em: www.p-o-e-s-i-a.org/dossies/. Acesso em: 31 ago. 2024.
1. Com base na leitura do poema e em sua interpretação, responda às questões a seguir.
a) Qual é o assunto central do poema?
b) Quais diferenças de efeito de sentido haveria caso o tema fosse tratado em um texto não literário? Justifique.
2. Retome o conceito de literatura apresentado anteriormente e responda às questões a seguir.
a) Em seu ponto de vista, quais características do poema apresentado permitem que ele seja compreendido como texto literário? Discuta sua resposta com os colegas.
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
b) As características literárias se manifestam de maneiras diferentes no poema lido e no texto Carta ao rei D. Manuel. Aponte, no caderno, uma dessas diferenças e explique sua resposta.
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor.
Ailton Krenak é um pensador, escritor, ambientalista, ativista e líder indígena do povo krenak. Nascido em Minas Gerais, na região do Médio Rio Doce, aos 17 anos, mudou-se com sua família para o Paraná, onde f oi alfabetizado e se tornou produtor gráfico e jornalista. Em sua v ida adulta, passou a dedicar seus estudos ao movimento indígena, participando, em 1 987, da Assembleia Nacional Constituinte para a formulação da Constituição Brasileira de 1988. Em sua carreira como escritor, A ilton Krenak ganhou o Prêmio Juca Pato de Intelectual do Ano em 2020 e, em 2023, foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras. Entre as publicações mais importantes do autor, estão os livros Ideias para adiar o fim do mundo (2019), A vida não é útil (2020), O amanhã não está à venda (2020) e Futuro ancestral (2022).

■ Ailton Krenak na Academia Brasileira de Letras, 2024.
4. b) No poema, a repetição das consoantes p, t e d contribui para criar um ritmo mais interrompido, com batidas duras, passando a sensação de truncamento. Já no verso 5, a repetição do som nasal nas palavras balança e levemente gera sensação de movimento suave, tal qual proposto no verso.
3. Observe a organização espacial das palavras no poema. Como essa organização se estrutura?
O poema se organiza em versos.

Literatura contemporânea indígena
Na atualidade, grupos minoritários que antes eram representados nos textos literários a partir da visão do outro, como no Quinhentismo, passaram a ter suas produções literárias valorizadas, ou seja, tornaram-se seus próprios representantes. Ailton Krenak, uma das vozes da literatura indígena brasileira, foi, no ano de 2023, o primeiro indígena eleito membro da Academia Brasileira de Letras, por exemplo. Suas produções literárias são lidas por um número cada vez maior de pessoas, o que contribui para a disseminação de sua cultura, de seus estudos científicos, de seus saberes e de suas literaturas.
4. Releia o poema prestando atenção na sonoridade dos versos.
4. a) O poema não apresenta rimas, pois os sons ao final dos versos não se assemelham.
a) Rima é a repetição exata, ou muito próxima, do som das sílabas. Ela ocorre, geralmente, no final dos versos. Esse recurso é utilizado no poema analisado? Explique.
b) Analise o modo como a alternância entre sons mais fortes e mais fracos de sílabas nos versos e a repetição de palavras ou sons de vogais ou consoantes contribuem para a formação do sentido no poema.
5. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes percebam que o conteúdo do poema, se transmitido por meio da oralidade, ganha mais força de sentido.
5. Leia em voz alta o poema de Ailton Krenak. Quais mudanças de sentido esse modo de leitura, que envolve também a escuta, pode trazer para a interpretação ou recepção do seu conteúdo?
Poema ou poesia?
O sociólogo, crítico literário e professor universitário Antonio Candido (1918-2017) explicou, em sua obra O estudo analítico do poema (1987), a diferença entre poesia e poema. Segundo ele, enquanto o termo poema se refere à estrutura formal composta de versos, que pode ou não seguir um padrão de métrica, rima e ritmo, a palavra poesia se refere ao caráter lírico das composições literárias. Portanto, textos escritos em prosa podem apresentar características poéticas, assim como alguns poemas podem não as apresentar.
Características estruturais do poema
O poema é uma composição literária, que pode circular de forma escrita ou oral, em que a estrutura e a expressividade da linguagem são utilizadas para veicular emoções, ideias e pensamentos por meio de elaborações estéticas. Ele comumente é composto em versos e organizado em estrofes, além de ser elaborado com recursos sonoros específicos da linguagem poética, como o ritmo e a rima. O ritmo se refere à organização temporal dos sons que compõem a estrutura dos versos e das estrofes, sendo percebido pela alternância entre sons fortes e fracos, repetição de letras ou palavras e pela métrica do poema. A rima se refere à repetição de sons idênticos ou muito semelhantes ao final de cada verso. Ritmo e rima contribuem para enfatizar ideias, gerar emoções, criar padrões sonoros e facilitar a recitação do poema.
Os aspectos estruturais do poema serão aprofundados no decorrer do volume. Rima e métrica serão aprofundadas no Capítulo 2 .
As marcas que o processo de colonização deixou nas sociedades, especificamente nas brasileiras, propagam a reprodução de violências simbólicas e físicas contra grupos socialmente minoritários. Essas marcas são responsáveis, por exemplo, pela naturalização das desigualdades de poder e das hierarquias raciais e culturais que fazem com que a reprodução das relações de dominação perdure ao longo do tempo. Tais desigualdades têm como pano de fundo os ideais eurocêntricos disseminados durante o período do Quinhentismo e evidentes no texto Carta ao rei D. Manuel. No percurso da literatura brasileira, muitos textos reproduzem tais marcas, fornecendo ao leitor um retrato de como as desigualdades se estabeleceram na sociedade brasileira no decorrer dos séculos, enquanto outros textos apresentam um ponto de vista crítico sobre o tema. Os textos literários produzidos por grupos minoritários,
Resposta pessoal. É importante que, no decorrer da discussão, os estudantes reflitam sobre movimentos contracoloniais e compreendam a importância da valorização das culturas de grupos minoritários, como os povos originários.
como os indígenas e os quilombolas, vêm ganhando espaço na literatura nos últimos anos. Esse reconhecimento é muito importante para que a literatura brasileira se configure como um espaço artístico pautado na pluralidade de pensamentos.
6. Reúna-se com um colega e elabore, no caderno, um parágrafo explicativo sobre o modo como o poema estudado explora criticamente as violências simbólicas reproduzidas contra grupos minoritários. Em seguida, compartilhe o parágrafo com a turma, apresentando o ponto de vista desenvolvido sobre o tema.
Espera-se que os estudantes reconheçam que o poema descreve as violências como consequências da reprodução das marcas deixadas pela colonização.

Leia o trecho a seguir, retirado do livro A terra dá, a terra quer (2023), escrito pelo autor quilombola Antônio Bispo dos Santos (1959-2023), no qual o autor discorre sobre a ideia de contracolonialidade. Em seguida, discuta as questões propostas com a turma.
MULTICULTURALISMO
Respostas pessoais. Espera-se que os estudantes percebam o poema como contracolonial, uma vez que critica a colonialidade.
O contracolonialismo é simples: é você querer me colonizar e eu não aceitar que você me colonize, é eu me defender. O contracolonialismo é um modo de vida diferente do colonialismo.
O contracolonialismo praticado pelos africanos vem desde a África. É um modo de vida que ninguém tinha nomeado. Podemos falar do modo de vida indígena, do modo de vida quilombola, do modo de vida banto, do modo de vida iorubá. Seria simples dizer assim. Mas se dissermos assim, não enfraqueceremos o colonialismo. Trouxemos a palavra contracolonialismo para enfraquecer o colonialismo. Já que o referencial de um extremo é o outro, tomamos o próprio colonialismo. Criamos um antídoto: estamos tirando o veneno do colonialismo para transformá-lo em antídoto contra ele próprio.
SANTOS, Antônio Bispo dos. A terra dá, a terra quer. Ilustrações: Santídio Pereira. São Paulo: UBU; [Belo Horizonte]: Piseagrama, 2023. p. 36-37.
• Em sua opinião, o poema analisado pode ser compreendido como contracolonial? Explique.
• Considerando o conceito de contracolonialismo e o que foi estudado até aqui, discuta sobre a importância do estudo de literaturas produzidas por grupos indígenas minoritários.
• Em sua opinião, qual é a importância da criação de termos como contracolonialismo timar e valorizar o multiculturalismo?
■ Antônio Bispo dos Santos, também conhecido como Nêgo Bispo, era considerado uma das maiores lideranças do Movimento Quilombola do Brasil. Na foto, o líder quilombola participa de palestra no Sesc Guarulhos, em São Paulo. Fotografia de 2023.
Resposta pessoal. A questão oportuniza
Quilombolas
Os quilombolas são um grupo étnico composto de descendentes e remanescentes dos quilombos. Eles cultivam relações específicas com parentesco e território, além de manter tradições e práticas culturais p róprias, ligadas à ancestralidade. Atualmente, existem políticas que garantem que quilombolas o cupem terras que já eram territórios de suas comunidades. Para saber mais sobre o tema e aprofundar seus conhecimentos sobre esses conceitos, acesse o documento Regularização de território quilombola: perguntas & respostas, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), por meio do endereço a seguir.
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA. Regularização de território quilombola: perguntas & respostas. Brasília, DF: Incra, 2017. Disponível em: www.gov. br/incra/pt-br/assuntos/ governanca-fundiaria/ perguntas_respostas.pdf. Acesso em: 31 ago. 2024

Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor
7. a) Sociedades ágrafas são aquelas que se desenvolveram não por meio da prática de escrita, mas sim da prática de oralidade, sonoridade e representações imagéticas.
7. Junte-se a um colega e leia este trecho de um artigo informativo sobre o termo Pré-História. Em seguida, responda às questões no caderno.

O termo pré-história talvez seja um dos mais injustiçados de todo o conhecimento histórico. A expressão em si transmite a ideia de que pré-história é tudo aquilo que tenha vindo, supostamente, antes da História. Ou seja, antes dos primeiros registros escritos. A disciplina histórica, etnocêntrica e excludente, especialmente a partir do século XIX, definiu que a História deveria ser produzida com base em documentos oficiais, ou da burocracia geral do estado. Neste sentido as populações que não dominavam a escrita ficaram subalternizadas e foram por muito tempo consideradas irracionais ou pouco desenvolvidas. Desta forma como dar conta então de grupos e sociedades ágrafas e sem domínio da cultura escrita? Embora ágrafas, não ficam de fora da História e têm seu lugar reservado nos estudos históricos. O acesso ao passado se dá pelo trabalho de arqueólogos, antropólogos, biólogos e paleontólogos em conjunto.
7. b) O texto questiona o marco do início histórico associado à presença da escrita e expõe que essa concepção deprecia sociedades ágrafas existentes anteriormente.
RODRIGUES, Pedro Eurico. Pré-História . [S. l.]: InfoEscola, c2006-2024. Disponível em: www.infoescola.com/historia/pre-historia. Acesso em: 8 ago. 2024.
a) O que são sociedades ágrafas? Se necessário, faça uma breve pesquisa a respeito desse tema.
b) A cultura escrita é considerada um dos marcos civilizatórios; no entanto, o texto expõe um ponto de vista diverso sobre essa compreensão. Explique-o.
c) Com um colega, pesquise algumas sociedades ágrafas no mundo e componha com a turma um painel de imagens, com legendas explicativas, sobre essas sociedades. Em cada legenda, identifique o povo associado à imagem e as características de seus modos de registro cultural. Esse painel pode ser virtual.
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
A pesquisa pode ser realizada em meios impressos ou digitais. Como ponto de partida, acesse as referências a seguir.
• SOUZA, Lynn Mario T. Menezes de. Uma outra história, a escrita indígena no Brasil [S. l.]: Povos Indígenas no Brasil, 25 jan. 2021. Disponível em: https://pib.socioambiental.org/pt/ Uma_outra_hist%C3%B3ria,_a_escrita_ind%C3%ADgena_no_Brasil. Acesso em: 8 ago. 2024.
• LOPES-SANTOS, Francisco. Povos de África: san, os ancestrais do mundo. Mais Afrika , Londres, 30 out. 2023. Disponível em: https://maisafrika.com/noticias/ultimahora/povos -de-africa-san-os-ancestrais-do-mundo/. Acesso em: 8 ago. 2024.
Caso sua pesquisa seja on-line, observe as orientações a seguir.
• Utilize palavras-chave eficientes, como “sociedades ágrafas na atualidade”.
• Selecione fontes confiáveis, como sites de universidades, sites que publicam textos de divulgação científica, sites oficiais etc.
• Verifique a credibilidade dos autores do texto selecionado como fonte buscando informações sobre formação e atuação acadêmica e/ou profissional do autor.
• Compare informações buscando a mesma informação em outras fontes, de modo a identificar diferentes enfoques.
• Ao final, insira as fontes que você utilizou, agregando credibilidade à sua pesquisa.
8. Depois das pesquisas e leituras, discuta com a turma a questão: qual é a importância da oralidade para a sociedade atual?
Espera-se que os estudantes reconheçam a oralidade como parte integrante das culturas ágrafas e das pautadas na escrita. Destaque as práticas sociais orais das sociedades modernas, como debates, conversas, músicas, danças, contação de histórias e outros contextos que façam parte da cultura dos estudantes para que eles reconheçam a importância da oralidade para as sociedades.
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor
Nesta seção, será apresentado um trecho de um artigo acadêmico escrito pela historiadora Beatriz Nascimento (1942-1995). Durante décadas, ela se dedicou a compreender a formação dos quilombos no Brasil e lutou pelo reconhecimento político das terras quilombolas, fato que se deu apenas no ano de sua morte. Ainda que os quilombos tenham sua origem no período escravocrata, muitos dos descendentes dos primeiros quilombos, como o escritor Antônio Bispo, ocuparam o mesmo território em busca de preservar a história e os costumes das suas respectivas comunidades. Hoje, a população quilombola é reconhecida enquanto identidade étnica e, mesmo tendo seu direito territorial assegurado por lei, segue buscando a titulação de grande parte de seu território.

O conceito de quilombo e a resistência cultural negra
[…]
O quilombo como instituição no período Colonial e Imperial no Brasil.
[…]
Beatriz Nascimento foi uma importante historiadora, professora, poeta e ativista brasileira. Ela é conhecida por seu trabalho dedicado ao estudo da história e da cultura afro-brasileira, além do seu ativismo a favor dos direitos humanos, especialmente os direitos das mulheres negras. A historiadora foi uma das fundadoras do Movimento Negro Unificado (MNU) e desempenhou papel fundamental na luta contra o racismo estrutural no Brasil.
Dos primeiros quilombos brasileiros, no século XVII, sem dúvida Palmares se sobressai sem similar. Das notícias da época, a quantidade destes estabelecimentos está diretamente relacionada ao desmembramento deste grande estado que inaugura uma experiência singular na História do Brasil. Se inferirmos, através de coincidência de datas, vamos notar que o Quilombo dos Palmares não deixa de ser fenômeno paralelo ao que está se desenrolando em Angola no final do século XVI e início do século XVII. Talvez seja este quilombo o único a que se pode fazer correlação entre o kilombo instituição angolana e quilombo no Brasil colonial. O auge da resistência Jaga se dá exatamente entre 1584 e meados do outro século, após o qual esta etnia se alia ao esforço negreiro português. Neste mesmo momento se estrutura Angola-Janga, conhecido como Quilombo dos Palmares no Brasil. Alguns outros fatores coincidentes com a realidade angolana podem ser remarcados, como por exemplo a nominação do chefe africano de Palmares, Ganga Zumba. Tal título era dado ao rei Imbangala com uma pequena variação: Gaga. O adorno da cabeleira verificado pelo cronista quando o rei palmarino conferencia em Recife a trégua que tem o seu nome: era costume do Imbangala Calando, por exemplo, usar o cabelo em tranças longas adornadas de conchas, como sinal de autoridade. O estilo da guerra, baseada numa máquina que se opunha em várias frentes aos prováveis inimigos da instituição, ou seja, a corte transversal e a centralidade nova frente ao regime colonial. Por fim, o nome dual da instituição no Brasil Angola-Janga.

■ Historiadora Beatriz Nascimento.
Certo é que o nome Angola dado ao território colônia africano derivou do nome do rei mbundu N’gola, o qual emprestou-o aos seus diversos descendentes-sucessores. Provavelmente representantes desta dinastia africana são transferidos pelo tráfico para o Brasil. Certo é que estejam em Palmares também como chefes do estabelecimento sedicioso. Provável que o segundo nome janga – variação sedicioso: revoltoso.
3. a) Segundo o dicionário Aulete Digital, banzo tem a seguinte acepção: “Estado de grande apatia nostálgica e inanição (às vezes antecedido de agitação e agressividade) que apresentavam muitos negros trazidos da África, decorrente do desterro e da escravização, e que não raro levava à morte ou à loucura”. Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor.
de Jaga – demonstra a união destas duas linhagens chefiando o Quilombo de Palmares, porque assim estavam relacionados no controle do território mbundu em Angola.
Estas considerações em torno deste Quilombo no Brasil nos dão a medida do quanto as realidades de Brasil e Angola estavam num estágio ainda possível de inter-relação. Os demais quilombos vão se distanciando do modelo africano e procurarão um caminho de acordo com as suas necessidades em território brasileiro.
Falta ainda um esforço historiográfico de, ao estudar os quilombos brasileiros, defini-los segundo suas estruturas e sua dinâmica no tempo. De um modo geral define-se quilombo como se em todo o tempo de sua história fossem aldeias do tipo que existia na África, onde os negros se refugiavam para ‘curtir o seu banzo’.

2. a) Espera-se que os estudantes compreendam que estudo historiográfico é aquele realizado com base em pesquisa em fontes históricas.
NASCIMENTO, Beatriz. O conceito de quilombo e a resistência cultural negra. Afrodiáspora, Rio de Janeiro, ano 3, n. 6-7, p. 41-49, 1985. p. 41, 43-44. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4408010/mod_resource/content/2/NASCIMENTO -Beatriz_O%20conceito%20de%20Quilombo%20e%20a%20resist%C3%AAncia%20culturl%20negra.pdf. Acesso em: 8 ago. 2024.
Angola Janga: uma história de Palmares

■ Capa do livro.
A história em quadrinhos (HQ), escrita por Marcelo D’Salete (1979-), trata da formação e da resistência de Palmares a partir de uma perspectiva que mistura história e ficção. A HQ foi traduzida para diversos idiomas e recebeu, em 2018, o Prêmio Jabuti na categoria Histórias em Quadrinhos.
D’SALETE, Marcelo. Angola Janga: uma história de Palmares. Capa. São Paulo: Veneta, 2017
1. Para justificar a associação entre o Quilombo dos Palmares e a instituição angolana kilombo, Beatriz Nascimento apresenta alguns dados históricos.
a) Quais são os dados apresentados pela historiadora?
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor.
b) O que esses dados mostram sobre o modo como Brasil e Angola se relacionavam?
Tais dados evidenciam que Brasil e Angola mantinham uma relação de proximidade à época da fundação do Quilombo dos Palmares.
c) Qual é a importância da presença de tais dados no contexto de produção e na leitura do texto?
A presença de tais dados confere legitimidade ao que está sendo afirmado pela autora.
2. No último parágrafo, a historiadora aponta a necessidade de um estudo historiográfico para compreender a dinâmica dos quilombos brasileiros. A esse respeito, reúna-se com um colega e responda às questões a seguir.
a) De acordo com a leitura do texto, qual é a interpretação possível sobre o que é estudo historiográfico?
2. b) Respostas pessoais. Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor.
b) Realize uma pesquisa e busque a definição histórica da expressão estudo historiográfico. Essa definição se parece com o que foi respondido na questão anterior? Explique.
c) Elabore, no caderno, uma hipótese que explique por que, até os anos 1980, os quilombos não haviam sido muito estudados.
Resposta pessoal. Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
3. Releia o trecho a seguir.
De um modo geral define-se quilombo como se em todo o tempo de sua história fossem aldeias do tipo que existia na África, onde os negros se refugiavam para ‘curtir o seu banzo’.
a) Pesquise em um dicionário, impresso ou virtual, o significado do termo banzo e registre-o no caderno.
b) A utilização dessa expressão explicita um posicionamento da autora sobre o modo como os quilombos eram definidos pelos historiadores. Qual é esse posicionamento? Justifique.
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor

Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor
Na seção Estudo Literário, você analisou diferentes pontos de vista sobre uma mesma realidade: o processo de ocupação do Brasil. Nesta seção, os diferentes pontos de vista continuarão a ser analisados, agora sob a perspectiva do campo das práticas de estudo e pesquisa. O trecho do roteiro de podcast apresentado a seguir coloca lado a lado os saberes tradicionais e o conhecimento científico, que não são iguais, mas nem por isso precisam ser antagônicos – ao contrário, podem se aliar.
Resposta pessoal. Existem podcasts de diversas temáticas e formatos. Procure explorar o conhecimento dos estudantes acerca do assunto, perguntando quais são os programas prediletos deles e destacando as diferenças entre as respostas.
Antes de iniciar a primeira leitura do texto, comente com a turma as questões a seguir.
• Você já escutou algum podcast?
• Além dos livros didáticos e das aulas na escola, quais são as outras fontes de conhecimento científico que você utiliza em seu cotidiano?
• Como você definiria a diferença entre conhecimento científico e saberes tradicionais?
Resposta pessoal. Procure perceber o conhecimento prévio dos estudantes acerca do tema. As questões adiante irão aprofundar a discussão.
PODCAST CIÊNCIA SUJA
TEMPORADA 04, EPISÓDIO 5
Título: A ciência é para todos
Resposta pessoal. Neste capítulo, o gênero roteiro de podcast será estudado, e a mídia podcast será observada como uma possibilidade de divulgação de conhecimentos científicos. Procure saber se os estudantes fazem uso de outras mídias ou veículos responsáveis pelo mesmo tipo de divulgação, como revistas, programas de televisão, documentários, vídeos de divulgação científica, portais de universidades, entre outros.
FELIPE BARBOSA
Na sua apresentação lá no Encontro do Serrapilheira você apresentou uma foto ali.
THEO : O nosso editor que você ouviu aí, o Felipe Barbosa, matou todo mundo do Ciência Suja de inveja e em outubro foi pro encontro anual do Instituto Serrapilheira, que esse ano aconteceu na praia de Pipa, no Rio Grande do Norte. Era cada foto que ele mandava no grupo de WhatsApp que eu vou te falar, viu…
THEO : Mas tirando os golfinhos, o mar paradisíaco, a pousada pé na areia, a brisa fresca, o cuscuz com queijo coalho, o suco de caju, o happy hour estendido – e teve as palestras também, claro… É, tirando muita coisa, outro ponto bacana desses encontros é que eles juntam pesquisadores e comunicadores de diferentes contextos para baterem papo e apresentarem seus trabalhos. É uma troca de ideias entre um monte de gente envolvida com ciência que tem o apoio do Serrapilheira, que nem a gente.
FELIPE BARBOSA
E ela remete um pouco a isso que você acabou de falar. Queria que você descrevesse a foto, o que tem ali na foto.
CAROL : Num dos dias em Pipa, o Felipe viu a apresentação do trabalho do Victor Junior Lima Felix, um pesquisador indígena paraibano, do povo Potiguara, que tem mestrado e doutorado em Ciência do Solo pela Universidade Federal da Paraíba, a UFPB. E foi aí que ele viu a tal foto.
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor
VICTOR JUNIOR LIMA FELIX
É, a foto eu coloquei justamente porque significa muito de minha identidade e de minha pesquisa.
CAROL : Esse aí é o Victor. E a fotografia da apresentação dele é da época que ele estava fazendo o trabalho de conclusão de curso em agroecologia, isso lá em 2013.
VICTOR JUNIOR LIMA FELIX
Naquele momento estavam membros da comunidade, um deles era meu avô.
CAROL : A foto foi tirada em um ambiente de mata do território Potiguara, que hoje está restrito ao litoral norte da Paraíba. O Victor nasceu na cidade de Baía da Traição, que faz parte dessas terras e que tem esse nome por motivos bem colonialistas. Diz a história que, logo que os portugueses chegaram no litoral paraibano ainda no século 16, o povo Potiguara se defendeu e acabou matando alguns europeus.

CAROL : Além disso, anos depois, o povo Potiguara se aliou aos espanhóis contra os portugueses em uma guerra longa ali na região. Então Baía da Traição viria dessas supostas ‘traições’ dos indígenas – que na real só estavam tentando preservar o próprio território, né.
Isso ficou, eu particularmente não gosto. Para mim a gente mudaria: Baía dos Potiguara. Essa baía é nossa, então seria o nome mais adequado.
THEO : Mas voltando à foto da apresentação do Victor no Encontro do Serrapilheira. Ela foi tirada em um ambiente de mata, como a Carol falou. No primeiro plano, tem dois senhores da comunidade indígena potiguara, que nem o Victor. Um está de shorts e polo listrada, e o outro – o vô do Victor – está sem camisa e com uma calça jeans.
THEO : Aí ainda tem uma criança da comunidade no meio do pessoal e, no segundo plano, um Victor uns bons anos mais novo, de calça e camiseta. O Victor parece que está com um olho em um caderninho na mão dele e o outro num buraco na terra bem grande que mostra diferentes camadas do solo, ou um perfil do solo, como se fala.
VICTOR JUNIOR LIMA FELIX
De frente a um perfil de solo, onde estava o meu orientador. É, pedólogo. E eu estava justamente anotando.
THEO : Pedólogo é a pessoa que estuda o solo em seu ambiente natural. E a pedologia é um ramo da geografia que trabalha com mapas de solo – são uns mapas mesmo, que delimitam qualidades do solo em determinadas regiões. É um negócio importante para a agricultura e um monte de outras coisas. Bom, na foto, o orientador do Victor, o pedólogo, estava dentro desse buraco no chão, encurvado, com a cara bem perto de uma das camadas do solo.
VICTOR JUNIOR LIMA FELIX
Era esse o momento onde a magia estava acontecendo, né? Onde a gente estava escrevendo tecnicamente e os conhecedores ali conversando, falando, contando experiências e detalhes do que eles sabiam daquele tipo de solo ali e tal.
THEO : Os conhecedores que o Victor falou aí são os indígenas. E a foto é genial porque ela registra, de um lado, os membros da comunidade Potiguara, que conhecem aquele solo ali há séculos, e do outro um representante da ciência convencional – o orientador. No meio deles está o Victor.
VICTOR JUNIOR LIMA FELIX
Eu tô fazendo essa ligação entre o pedólogo, o técnico ali, e o membro da comunidade, que também sou. Para mim, é uma imagem bem significativa. Foi a primeira pesquisa que eu fiz em etnopedologia, e aquela imagem é símbolo de como tudo começou para mim.
CAROL : Não sei se você reparou, mas o Victor não falou em pedologia, e sim em etnopedologia. A
1. c) A reunião de comunicadores e pesquisadores permite que informações e descobertas científicas sejam divulgadas por veículos de imprensa e alcancem o público geral, não especialista, que de outra maneira não teria acesso a esses conteúdos. No trecho lido, isso ocorre quando o editor do podcast se interessa pela apresentação do pesquisador Victor Junior Lima Felix e decide falar sobre ela no programa. Na subseção Diálogos, a função divulgadora do jornalismo científico será aprofundada.
etnopedologia une estudos convencionais do solo com a participação direta das comunidades locais. É um negócio novo e que ainda está sendo construído. Mas o fato é que, mesclando técnicas da pedologia com o conhecimento de 25 aldeias do território Potiguara, o Victor conseguiu criar mapas do solo precisos.
Esse mapa convencional foi em grande parte viabilizado com pouco recurso e com alta eficiência por conta do conhecimento etnopedológico daqui do povo Potiguara, que apontava facilmente onde estavam distribuídos os solos, algumas características deles.
CAROL : Esse é um exemplo de como a aliança entre conhecimentos tradicionais e a ciência convencional pode trazer benefícios para a sociedade. O Victor chegou a firmar uma parceria com a Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, justamente porque isso tem o potencial de melhorar o plantio na região.

CAROL : Neste episódio, a gente vai trazer outros casos de uniões bem-sucedidas. Mas a gente também vai discutir se essa aliança tem limites, e, no fim, o que é ciência.
THEO : Pra fechar a nossa temporada especial sobre colonialismo e racismo, a gente resolveu entrar no vespeiro do que é e do que não é ciência, da diferença entre ciência e conhecimento e também de como a pseudociência pode usar essas discussões para se infiltrar na academia e na sociedade. Isso parece uma discussão lateral, mas na verdade ela é central para definir os rumos do fazer científico. Eu sou o Theo Ruprecht.
CAROL : Eu sou a Carol Marcelino. E esse é o Ciência Suja, o podcast que mostra que, em crimes contra a ciência, as vítimas somos todos nós.
– SOBE-SOM –
PODCAST CIÊNCIA SUJA. [Roteiro T04E05 – A ciência é para todos]. [S l.]: Ciência Suja, [dez. 2023]. Disponível em: www.cienciasuja.com.br/_files/ugd/c6b2b2_454e2ad850074d48b53d05b610fb4962.pdf. Acesso em: 9 ago. 2024.
1. a) Encontro anual do Instituto Serrapilheira, que tem o objetivo de unir pesquisadores e comunicadores de diferentes contextos para trocar informações sobre ciência.
1. O podcast tem início com a descrição de um encontro de divulgação científica do qual uma pessoa da equipe do Ciência Suja participou.
a) Qual foi esse encontro e com que objetivo ele aconteceu?
b) Qual membro da equipe do podcast compareceu ao encontro?
Barbosa, editor do podcast.
c) O evento relatado une comunicadores e pesquisadores. De que maneira o encontro desses profissionais pode auxiliar na divulgação de informações e descobertas científicas? Como isso aparece no trecho do roteiro que você leu?
d) Ao falar da ida de um membro da equipe ao encontro, o apresentador Theo Ruprecht abre espaço para um momento de humor no podcast. De que maneira isso é feito? Em sua opinião, esse momento ajuda ou atrapalha a narrativa contada?
Oralidade e escrita no podcast
A oralidade e a escrita estão igualmente presentes no podcast. A gravação de um podcast pressupõe a fala e, até mesmo, o diálogo. No entanto, há um processo que antecede essa fala: a escrita de um roteiro. A maneira como o texto de um roteiro de podcast é construído depende do conteúdo que ele pretende apresentar. Os podcasts de narrativas de suspense e os de divulgação científica, por exemplo, costumam ser construídos com mais texto para ser lido. Os podcasts de entrevista, por outro lado, contam muitas vezes com uma lista de perguntas e com a improvisação do diálogo entre entrevistado e entrevistador.
1. d) O momento de humor é construído quando o apresentador fala da inveja que os colegas sentiram pelo fato de o editor Felipe Barbosa estar na Praia de Pipa, um lugar paradisíaco. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes percebam que a fala pode dar leveza ao conteúdo e aproximar o ouvinte do assunto que será abordado. É possível, no entanto, que alguns estudantes opinem que o comentário atrapalha a credibilidade do podcast, o que deve ser levado em consideração se a posição for bem argumentada.
2. a) A Baía leva esse nome por causa dos combates que o povo potiguara travou contra os portugueses e espanhóis para defender o território. O comentário se dá porque, de acordo com Carol, esses atos não podem ser considerados uma traição, e sim uma tentativa de preservação do próprio território.
2. c) Respostas pessoais. Se julgar necessário, comente com a turma que a mudança do nome pode fortalecer a história e a identidade do povo potiguara, especialmente ao retirar uma visão pejorativa a respeito da sua luta pela defesa do território.
2. Observe a seguir uma imagem da costa da cidade Baía da Traição (PB), na qual o pesquisador Victor Junior Lima Felix nasceu.
a) De acordo com a apresentadora Carol Marcelino, Baía da Traição carrega esse nome por “motivos bem colonialistas”. Explique esse comentário a partir das informações do roteiro.
b) Para Victor Junior Lima Felix, qual seria o nome mais adequado? Por quê?

2. b) Baía dos Potiguara, porque, segundo ele, a cidade pertence a

■ Costa de Baía da Traição (PB). Fotografia de 2020.
c) A mudança dos nomes oficiais ou tradicionais de bairros, praças e vias de municípios costuma ser possível apenas por meio da aprovação de decreto da Câmara Municipal, mas a população pode solicitar essa mudança junto a parlamentares. A alteração do nome de um município, no entanto, enfrenta caminhos mais complicados, pois a situação inexiste na Constituição Federal. Em sua opinião, a mudança de nome sugerida pelo pesquisador Victor Junior Lima Felix pode ser importante? Por quê? Comente com os colegas.
3. Leia, a seguir, uma definição de conhecimento científico e saber tradicional, formulada pelo pesquisador e geógrafo Juliano Strachulski para o portal da Sociedade Brasileira de História da Ciência. Observe que, no trecho, Strachulski se refere ao conhecimento científico apenas como “ciência”.
Contudo, na atualidade ‘(…) a ciência é entendida como uma busca constante de explicações e de soluções, de revisão e de reavaliação de seus resultados, apesar de sua falibilidade e de seus limites’ […]. Portanto, não deve ser vista como uma forma de cognição hegemônica , incontestável e obliteradora das demais, não traz uma verdade absoluta, pois busca se reformular e reinventar para tentar compreender e explicar a realidade que é mutante.
Resposta conhecimento resultado de uma busca constante de explicações e soluções, que, para serem produzidas, envolvem métodos reavaliação de
3. c) Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes retomem as hipóteses levantadas e identifiquem a linha de raciocínio que utilizaram naquela etapa, comparando com as respostas da questão.
Por sua vez, o conhecimento tradicional se estrutura e age para classificar e interpretar o mundo a partir da memória e de uma concepção totalizadora da realidade. É pautado em vivências, tradições e práticas socioculturais, transmitido de geração a geração de forma oral e adquirido cotidianamente, considerado diacrônico, sincrético, dinâmico e holístico […].
Na visão de Babini […], pode-se entender que o conhecimento tradicional ‘(…) é o saber (…) que se possui sem o haver procurado ou estudado, sem a aplicação de um método e sem se haver refletido sobre algo’. É propenso ao relacionamento com as crenças e os valores, fazendo parte de antigas tradições.
cognição hegemônica: compreensão ou conhecimento principal, dominante. obliterador: aquele que destrói. diacrônico: que estuda ou entende uma situação de acordo com a sua evolução no tempo. sincrético: que resulta de uma mistura. holístico: que busca a compreensão integral dos fenômenos.
STRACHULSKI, Juliano. Conhecimento científico e tradicional: uma encruzilhada cognitiva? Boletim Eletrônico da Sociedade Brasileira de História da Ciência, [Rio de Janeiro], n. 20, mar. 2019. Disponível em: www.sbhc.org.br/conteudo/view?ID_CONTEUDO=1064#. Acesso em: 8 ago. 2024.
a) A partir da leitura do trecho, usando as suas palavras, explique o que pode ser compreendido como conhecimento científico.
b) A partir da leitura do trecho, usando as suas palavras, explique o que pode ser compreendido como conhecimento ou saber tradicional.
c) As suas respostas para as questões anteriores se assemelharam à hipótese que você havia levantado antes da leitura do roteiro? Comente as semelhanças e diferenças.
3. b) Resposta pessoal. O conhecimento tradicional utiliza a memória, as vivências, as tradições e as práticas para classificar e interpretar o mundo. Para que seja formulado, não há a aplicação de um método ou a reflexão de resultados, mas sim um saber que se transmite de geração em geração e se desenvolve com o tempo.

4. b) O podcast é um conteúdo disponibilizado em áudio. O público de um podcast, portanto, ao ouvi-lo, não conta com a possibilidade de visualizar a imagem. A descrição em áudio é a melhor maneira de auxiliar na compreensão da cena sobre a qual se pretende comentar.
4. O episódio do podcast Ciência Suja se inicia com a descrição de uma fotografia, que é apresentada a seguir.

4. a) Respostas pessoais. Espera-se que os estudantes percebam que o episódio faz uma descrição suficientemente detalhada da imagem. Procure observar se eles tinham uma visão estereotipada da comunidade à qual Victor pertence, procurando desfazer esses preconceitos.
4. c) Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
■ Fotografia apresentada por Victor Junior Lima Felix em sua palestra no encontro anual do Instituto Serrapilheira. Litoral norte da Paraíba. Fotografia de 2013.
a) Encontre, no roteiro, a descrição da imagem feita pelo apresentador Theo Ruprecht. Ao lê-la pela primeira vez, você conseguiu imaginar o que a fotografia apresenta? Comente com os colegas as suas impressões.
b) Em um podcast, qual é a função de uma descrição de imagem como a feita no Ciência Suja?
c) De que maneira, na fotografia, o conhecimento científico e o saber tradicional são representados? Eles aparecem em comunhão ou de maneira discordante? Explique sua resposta.
d) Victor Junior Lima Felix comenta, no podcast, que mostrou a fotografia em sua apresentação (imagem ao lado) porque ela significa muito de sua identidade e de sua pesquisa. Explique esse comentário com as informações do roteiro.
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor.

■ O pesquisador potiguara Victor Junior Lima Felix, doutor em Ciências do Solo pela UFPB, em sua apresentação no encontro anual do Instituto Serrapilheira, em Pipa (RN). Fotografia de outubro de 2023.
5. O roteiro de podcast que você leu apresenta uma formatação específica, na qual recursos gráficos são utilizados para destacar alguns conteúdos.
a) Copie o quadro a seguir no caderno ou em uma folha avulsa e indique qual recurso gráfico é utilizado em cada situação.
Indicação do início do episódio
Indicação dos elementos sonoros
Indicação da fala dos apresentadores
Indicação da fala dos convidados
b) Qual é a função desses recursos no roteiro do podcast?
5. Respostas das atividades a, b e c: Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor Situação


c) No roteiro, é possível perceber diferenças na indicação das pessoas que falam no podcast. A partir da leitura do texto e do preenchimento do quadro, explique que diferenças são essas e o que elas indicam sobre a função dessas pessoas no podcast
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor

O roteiro do podcast
Ciência Suja apresentou um profissional p esquisador da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, especificamente da Geografia: o pedólogo , pessoa que estuda o solo em seu ambiente natural. A etnopedologia também é apresentada no episódio, área q ue une estudos convencionais do solo à participação direta das comunidades locais.
• Elabore com sua turma um portfólio coletivo de profissões, que pode ser on-line ou físico. Procure acrescentar tanto o trabalho do pedólogo e do etnopedólogo quanto o de outros pesquisadores que consideram nas pesquisas deles os saberes de comunidades locais. Pesquise o mercado de trabalho, a formação, os possíveis cursos e as formas de ingresso. Dessa maneira, poderá conhecer diferentes profissões e se preparar para sua entrada no mundo do trabalho.
6. a) Apresentar Victor Junior Lima Felix e sua história, conhecidos por ele em um encontro anual do Instituto Serrapilheira.
6. b) Não. Espera-se que os estudantes deduzam que as falas dos participantes convidados são gravadas e depois editadas para serem apresentadas na gravação.
Gênero textual roteiro de podcast O gênero textual roteiro de podcast tem a função de organizar o conteúdo que será apresentado na gravação. Nele são indicadas as falas dos apresentadores, os nomes dos participantes e as instruções para a equipe de som e edição. A estrutura do roteiro, assim como o programa gravado, costuma ser dividida em segmentos, entre eles: apresentação ou introdução, vinheta, desenvolvimento do tema, encerramento. Entre esses segmentos, é comum o uso de transições com recursos sonoros. A maioria dos podcasts também costuma ser dividida em temporadas e episódios.
6. d) Sugestão de resposta: O uso dos apelidos aproxima os apresentadores do ouvinte, além de conferir certa informalidade ao podcast
6. O trecho do roteiro apresentado indica convidados e apresentadores. Observe a função de cada participante e responda às questões a seguir.
a) Que função a fala de Felipe Barbosa exerce no trecho do episódio?
b) Na gravação do podcast, os apresentadores leem as suas falas. O mesmo acontece com as falas dos participantes convidados? Explique sua resposta.
6. c) Sugestão de resposta: A apresentação da formação do participante convidado concede credibilidade ao relato dele.
c) Ao apresentar Victor Junior Lima Felix, Carol Marcelino explica a formação acadêmica do pesquisador. Levante uma hipótese: por que essa informação é logo indicada para o ouvinte?
d) Ao se apresentarem para o ouvinte, Carol Marcelino e Theo Ruprecht utilizam seus apelidos: Carol e Theo. Em sua opinião, por que essa escolha é feita pelos dois?
7. O trecho do roteiro que você leu corresponde à apresentação do episódio.
a) Anote, no caderno, as afirmações corretas a respeito das informações que são abordadas na apresentação.
Estão certas as afirmações II, III e IV.
I. O resumo das palestras apresentadas no encontro anual do Instituto Serrapilheira.
II. O nome dos apresentadores e o nome do podcast.
III. A descrição de uma fotografia que conduz à reflexão sobre conhecimento científico e saber tradicional.
IV. A apresentação de um participante convidado: o pesquisador Victor Junior Lima Felix.
V. Respostas de pesquisadores e jornalistas para a questão: o que é ciência?
b) A partir da resposta à questão anterior, responda: qual é o intuito da apresentação de um podcast?
Introdução e vinheta do roteiro de podcast
A apresentação é um segmento que tem por objetivo resumir o conteúdo que será tratado no episódio, apresentar os anfitriões e os possíveis convidados e, assim, conquistar a atenção do ouvinte.
O roteiro de podcast é adaptado a cada formato de programa, respeitando suas especificidades e estrutura. No entanto, é possível identificar algumas partes em comum, como introdução e vinheta. A introdução tem a função de resumir o conteúdo que será tratado no episódio, bem como anunciar os apresentadores e convidados, além de atrair a atenção do ouvinte. A vinheta, breve introdução sonora composta de música curta ou efeito sonoro, tem a função de marcar o início, o intervalo ou o final do episódio. Ela também tem a função de identificar o podcast, criando uma atmosfera reconhecível para o ouvinte. Juntas, introdução e vinheta marcam o início do episódio.
8. b) Procure facilitar o acesso dos estudantes à internet e, se julgar necessário, oriente-os a acessar a página do site do Instituto Serrapilheira na qual essa informação é apresentada: https://serrapilheira.org/projetos (acesso em: 9 ago. 2024.).
Entre os projetos apoiados, é possível citar: o canal do Atila Iamarino, o portal Repórter Brasil, o podcast Vinte mil léguas, entre outros. Resposta pessoal.
8. O editor do Ciência Suja teve acesso à fotografia apresentada pelo pesquisador indígena Victor Junior Lima Felix no encontro do Serrapilheira. Leia, a seguir, o trecho de uma descrição do Instituto Serrapilheira.
O Instituto Serrapilheira é uma instituição privada, sem fins lucrativos, que promove a ciência no Brasil. Foi criado para valorizar o conhecimento científico e aumentar sua visibilidade, ajudando a construir uma sociedade cientificamente informada e que considera as evidências científicas nas tomadas de decisões.
O instituto tem três programas: Ciência, Formação em Ecologia Quantitativa e Jornalismo & Mídia. […]
8. c) Para entrar no Programa Jornalismo e Mídia, os projetos enfrentam uma avaliação do instituto e competem com outros projetos. Portanto, o apoio do Instituto Serrapilheira confere a esses projetos a credibilidade de um material de qualidade jornalística e científica.

O Programa de Ciência apoia pesquisas de jovens cientistas que façam grandes perguntas fundamentais nas áreas de ciências naturais, ciência da computação e matemática. As propostas devem ser ousadas, e o risco é considerado bem-vindo. Além disso, o programa promove capacitações e eventos de integração entre os cientistas apoiados, incentivando colaborações transdisciplinares. […]
O Programa de Formação em Ecologia Quantitativa oferece um treinamento teórico e prático a futuros pesquisadores, de qualquer campo de conhecimento, para capacitá-los a formular e responder grandes questões nos diversos subcampos da ecologia, ajudando a tornar o Brasil um polo global de cientistas da área. […]
O Programa de Jornalismo & Mídia dá suporte a projetos profissionais de jornalismo e mídia que lancem um olhar curioso, provocativo e investigativo sobre a ciência; que promovam informações confiáveis e ajudem no combate à desinformação científica; e que subsidiem tomadores de decisão com dados relevantes sobre o cenário brasileiro de CT&I. […]
QUEM somos. [S l.]: Instituto Serrapilheira, [202-]. Disponível em: https://serrapilheira.org/quem-somos/. Acesso em: 9 ago. 2024.
a) Se gundo o apresentador Theo Ruprecht, o podcast Ciência Suja tem o apoio do Instituto Serrapilheira. A partir do trecho do roteiro lido, responda: o podcast provavelmente tem apoio do Instituto por meio de qual programa? Por quê?
Programa de Jornalismo & Mídia, pois o podcast é um veículo jornalístico que lança um olhar curioso sobre a ciência.
b) E xistem outros projetos jornalísticos de divulgação científica que contam com o apoio do Instituto Serrapilheira. Faça uma pesquisa e cite dois deles. Depois, responda: entre os projetos encontrados, há algum cujo conteúdo você costuma acessar?
c) De que maneira esse apoio confere credibilidade a esses veículos?
9. Agora, leia a descrição do podcast Ciência Suja apresentada em seu site

a) De acordo com essa descrição, de que maneira o podcast cumpre a função de combater a desinformação científica?
Expondo fraudes científicas e seus prejuízos para a sociedade.
b) Que relação a junção do adjetivo suja ao substantivo ciência transmite ao conteúdo do podcast e ao seu objetivo?
c) É comum que os podcasts tenham uma frase de efeito, normalmente falada na abertura dos episódios, que auxilia o público a identificar o programa. Que frase de efeito presente na descrição é utilizada com essa função no roteiro? “Quando o crime é contra a ciência, as vítimas somos todos nós.”
9. b) É possível afirmar que o adjetivo suja se relaciona às fraudes científicas que são denunciadas no podcast.
CIÊNCIA SUJA. [S. l., 2024]. Site. Disponível em: www.cienciasuja.com.br/. Acesso em: 12 ago. 2024.
10. Releia os trechos a seguir, do podcast Ciência Suja.
I. THEO: O nosso editor que você ouviu aí, o Felipe Barbosa, matou todo mundo do Ciência Suja de inveja e em outubro foi pro encontro anual do Instituto Serrapilheira […].

Estão corretas as afirmações b e c . Na afirmação , a expressão “matou todo mundo do Ciência Suja de inveja” tem um efeito de humor, por sua linguagem figurativa e seu sentido de hipérbole (exagero); no entanto, as demais expressões não contribuem para o sentido de humor.
II. CAROL: Além disso, anos depois, o povo Potiguara se aliou aos espanhóis contra os portugueses em uma guerra longa ali na região. Então Baía da Traição viria dessas supostas ‘traições’ dos indígenas – que na real só estavam tentando preservar o próprio território, né.
• Registre no caderno as afirmações corretas a respeito dos trechos.
a) No Trecho I, há marcas de oralidade no texto escrito, tais como “ouviu aí”, “matou todo mundo do Ciência Suja de inveja” e “foi pro encontro anual”, cujo objetivo é proporcionar humor à narração.
b) As palavras pro (Trecho I) e né (Trecho II) são marcas de oralidade porque indicam contrações típicas da linguagem oral para expressões formais, nesse caso, respectivamente, para o e não é.
c) Na real (Trecho II) é uma gíria que confere informalidade ao trecho em que é empregada.
11. Considerando o suporte (áudio) e o contexto de circulação do podcast Ciência Suja, explique por que no roteiro são empregadas expressões orais.
12. Releia o trecho a seguir.
Como o roteiro será lido, a escrita de expressões orais tem a finalidade de tornar essa leitura mais próxima do que seria uma fala natural e fluida. São verdadeiras as afirmações I e III. A afirmação II está incorreta, pois a palavra é utilizada com sentido de “atividade”, termo que se relaciona à relação empresarial, mas não apresenta tal especificidade.
As marcas de oralidade seguem uma lógica de organização e marcação diversa da linguagem escrita, com regras próprias, ainda que tenha como base a norma-padrão. Há mais dinamismo e criatividade nas construções, podendo haver gírias, interjeições e marcas de informalidade mais recorrentemente.
THEO : Pedólogo é a pessoa que estuda o solo em seu ambiente natural. E a pedologia é um ramo da geografia que trabalha com mapas de solo – são uns mapas mesmo, que delimitam qualidades do solo em determinadas regiões. É um negócio importante para a agricultura e um monte de outras coisas . Bom , na foto, o orientador do Victor, o pedólogo, estava dentro desse buraco no chão, encurvado, com a cara bem perto de uma das camadas do solo.
• Dentre as afirmações a seguir, registre no caderno a verdadeira.
I. As expressões um negócio e um monte de outras coisas são típicas da linguagem oral, por seu caráter genérico, pouco específico ou técnico.
II. O sentido de negócio, empregado no trecho, é de relação empresarial, relacionado à prestação de serviço do pedólogo.
III. Bom é um marcador discursivo que estabelece continuidade ao que estava sendo anteriormente dito e tem forte marca da oralidade.
13. Responda oralmente às questões a seguir, compartilhe as respostas com os colegas e, em seguida, registre-as no caderno.
a) Como é possível reconhecer marcas de oralidade em um texto escrito?
b) Quais são as funções dessas marcas de oralidade em textos escritos?
Aproximar o texto escrito de uma situação de fala ou conferir certa informalidade a ele.

Linguagem escrita e linguagem oral
A linguagem escrita não pode ser considerada apenas um registro da fala, porque seu surgimento remonta a diversas necessidades das sociedades, como representação de modos de vida. No ocidente, a base do sistema escrito é alfabética, ou seja, utilizam-se sinais gráficos – as letras – para representar unidades de som – os fonemas. No oriente, há outro tipo de registro, os ideogramas, que representam ideias. Na linguagem oral , o processo interacional ocorre por meio de um texto oral, o que, na maior parte dos contextos, favorece a dialogicidade, ou seja, a alternância de turnos de interação. A linguagem oral tem características próprias, como: ser pouco planejável de antemão, com planejamento e verbalização simultâneos; apresentar descontinuidades, reformulações e hesitações durante seu curso; ter sintaxe característica, ainda que siga a sintaxe geral da língua; ser um processo dinâmico de alternância de vozes.
O roteiro do podcast que você leu procura divulgar informações científicas de maneira mais acessível aos ouvintes, ou seja, ao grande público que não é especialista no assunto tratado. No trecho do texto a seguir, essa união entre a divulgação jornalística e o conhecimento científico é analisada.
A produção do jornalista e a do cientista detêm aparentemente enormes diferenças de linguagem e de finalidade. Vejamos como. Enquanto o cientista produz trabalhos dirigidos para um grupo de leitores, específico, restrito e especializado, o jornalista almeja atingir o grande público. A redação do texto científico segue normas rígidas de padronização e normatização universais, além de ser mais árida, desprovida de atrativos. A escrita jornalística deve ser coloquial, amena, atraente, objetiva e simples. A produção de um trabalho científico é resultado não raro de anos de investigação. A jornalística, rápida e efêmera. O trabalho científico normalmente encontra amplos espaços para publicação nas revistas especializadas, permitindo linguagem prolixa, enquanto o texto jornalístico esbarra em espaços cada vez mais restritos; e portanto deve ser enxuto, sintético.

O casamento maior da ciência e do jornalismo se realiza quando a primeira, que busca conhecer a realidade por meio do entendimento da natureza das coisas, encontra no segundo fiel tradutor, isto é, o jornalismo que usa a informação científica para interpretar o conhecimento de realidade.
OLIVEIRA, Fabíola de. Jornalismo científico 3. ed. São Paulo: Contexto, 2022. p. 43.
1. a) O podcast é destinado ao grande público, ou seja, a pessoas que não são especialistas no assunto.

Uma linguagem objetiva, com presença de marcas de oralidade e de informalidade e com recursos atrativos.
1. Segundo a autora, a produção jornalística e a científica detêm diferenças de linguagem e finalidade. A primeira diferença é o público que se deseja atingir.
a) Qual é o público do podcast cujo roteiro você leu?
b) Que características da linguagem presente no roteiro comprovam a sua resposta?
c) Que benefícios tem o ouvinte com a forma utilizada para apresentar os conteúdos do podcast?
Os conteúdos são apresentados de forma acessível e didática, tornando a informação mais fácil de ser compreendida pelo ouvinte.
2. De acordo com a autora, no casamento entre o jornalismo e a ciência, qual é a função do jornalismo?
De acordo com a autora, o jornalismo tem a função de traduzir o texto científico para o público não especialista.
A valorização da ciência pode ser incentivada pelo trabalho jornalístico de divulgação científica. Leia, a seguir, um trecho do depoimento do jornalista Herton Escobar sobre o assunto.
É por meio do jornalismo que a maior parte da sociedade mantém-se informada sobre o desenvolvimento da ciência, seus avanços, desafios e conquistas. Vale aqui a máxima de que ‘ninguém valoriza aquilo que não conhece’, e o jornalismo é certamente um dos agentes de maior protagonismo na manutenção dessa relação entre ciência e sociedade − fortemente apoiado, nos últimos anos, pelo crescimento das atividades de divulgação científica nas redes sociais e outros meios digitais, que certamente ampliaram enormemente a quantidade de conteúdo sobre ciência disponível para consumo pela sociedade, mas que (vale ressaltar) também dependem fortemente do jornalismo stricto sensu como fonte de notícias e informações.
Respostas pessoais. Incentive os estudantes a comentar se eles têm o hábito de ler textos jornalísticos de divulgação científica.
Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes notem que, ao valorizar a ciência e transmitir informações científicas bem apuradas, o jornalismo ajuda a combater conteúdos falsos ou negacionistas.
ESCOBAR, Herton. “Ninguém valoriza aquilo que não conhece”. In: SERRANO, Luiz Roberto. O jornalismo científico como esteio para o desenvolvimento. Jornal da USP, [São Paulo], 23 jun. 2022. Disponível em: https://jornal.usp.br/atualidades/o-jornalismo-cientifico-como -esteio-para-o-desenvolvimento/. Acesso em: 9 ago. 2024.
• Herton Escobar acredita que o jornalismo é um dos grandes responsáveis pela valorização da ciência. Você concorda com ele? Por quê?
• Em sua opinião, de que maneira a união do jornalismo com a ciência pode ajudar a combater discursos negacionistas ou fraudes científicas, como as denunciadas no podcast Ciência Suja?
A habilidade de analisar os fenômenos da língua é muito importante para os estudos linguísticos no Ensino Médio, especialmente para que o falante adote uma postura ativa diante de situações de enunciação. O desenvolvimento dessa habilidade permite que o usuário da língua se adeque linguisticamente a ela de acordo com cada situação enunciativa, com maior ou menor grau de formalidade, atendimento à norma-padrão e reconhecimento das variedades linguísticas.

Nesta seção, serão revisados alguns conceitos que embasam os estudos linguísticos de modo geral e que serão importantes para o acompanhamento dos estudos, as análises e as práticas propostos ao longo dos próximos três anos de estudo.
Língua e linguagem
1. Leia o trecho de um verbete que define o termo língua e responda oralmente com os colegas às questões a seguir.
No sentido mais corrente, língua é um instrumento de comunicação, um sistema de signos vocais específicos aos membros de uma mesma comunidade.
Chama-se língua materna a língua em uso no país de origem do falante e que o falante adquiriu desde a infância, durante o aprendizado da linguagem. As línguas vivas, numerosas , são todas as línguas atualmente utilizadas, tanto na comunicação oral como, para algumas, na comunicação escrita, nos diversos países. As línguas mortas não estão mais em uso como meio oral ou escrito de comunicação; mas subsistem testemunhos dessas línguas, utilizadas, às vezes, há milhares de anos: textos literários, documentos arqueológicos, monumentos, etc. A escrita permitiu transmitir esses testemunhos das línguas mortas, como o latim, o grego antigo, etc.
No interior de uma mesma língua, as variações são igualmente importantes […].
Enfim, no interior de uma mesma língua, distinguem-se dois meios diferentes de comunicação, dotados cada um de um sistema próprio: a língua escrita e a língua falada . Essa mesma variedade, aprendida pela experiência comum, é fonte de ambiguidade quando se trata de definir o termo língua . Por um lado, tem-se uma infinidade de línguas diversas, cuja tipologia é possível estudar. Por outro lado, constata-se que, no seio de uma comunidade linguística dada, todos os membros dessa comunidade (todos os falantes de português, por exemplo) produzem enunciados que, a despeito das variações individuais, lhes permitem comunicar-se e compreender-se, e que repousam sobre um mesmo sistema de regras e relações possíveis de descrever. É a esse sistema abstrato, subjacente a todo ato de fala, que F. de Saussure deu o nome de língua . […]
Cada língua apresenta esse sistema gramatical implícito, comum ao conjunto dos falantes dessa língua.
LÍNGUA. In: DUBOIS, Jean et al. Dicionário de linguística. São Paulo: Cultrix, 2006. p. 378-379.
signo: signo linguístico é a unidade mínima de uma frase, composta de um significante e um significado relacionados entre si psiquicamente, por associação. O significante é a forma; e o significado, os sentidos a ela relacionados. F. de Saussure: linguista e filósofo, o suíço Ferdinand de Saussure (1857-1913) é considerado o fundador da Linguística, porque desenvolveu importantes conceitos sobre a língua e a linguagem, que a elevaram como ciência.
1. a) As línguas vivas estão em uso, como: inglês, espanhol, francês, alemão (línguas ocidentais); russo, ucraniano, chinês, árabe (línguas orientais); nheengatu, guarani, yanomami (línguas indígenas); ronga, changana (línguas africanas); entre outras. Já no grupo das línguas mortas, tem-se: grego arcaico, antigo egípcio, sânscrito, mura (indígena), urupa (indígena), entre outras. Como informação complementar, comente com os estudantes que, segundo dados do Museu da Língua Portuguesa, no período da chegada dos portugueses ao Brasil, estima-se que existiam mais de 1 200 línguas indígenas,
e atualmente esse número está em torno de 270. Portanto, só no Brasil, há quase 1 000 línguas mortas, que, por serem ágrafas, podem ser irrecuperáveis do ponto de vista cultural. Essa temática será mais aprofundada nos estudos linguísticos do Capítulo 3
a) Considerando o conceito de língua viva e língua morta, cite exemplos de cada uma delas que não estejam no texto.
b) E xplique a importância de uma língua para as sociedades.
c) Segundo o texto, qual é a relação entre uma língua e suas variações?
2. Observe as imagens a seguir e copie no caderno as informações corretas sobre elas.


■ Pessoas dançam frevo em Recife (PE). Fotografia de 2022.
As línguas são instrumentos de comunicação comuns entre as comunidades e permitem a seus integrantes se compreenderem e se identificarem. Sua importância, portanto, é comunicativa, política e


■ Codificação de programação.
a) Dança (I) e música (II) são linguagens porque são formas de expressão humana que comunicam uma mensagem a interlocutores. No entanto, a codificação de programação (III) não pode ser considerada linguagem por ser artificial.
b) Dança (I) e música (II) são linguagens artísticas, e a codificação de programação (III) é uma linguagem artificial.
c) As três imagens representam diversas formas de linguagem, porque, por definição, uma linguagem é um sistema de signos usados para expressar representações da experiência e do conhecimento.
Língua e linguagem
Língua e linguagem são conceitos complementares, porém cada um tem sua especificidade. Línguas são conjuntos de signos comuns a determinados grupos e comunidades, com suas regras próprias. Linguagem é a capacidade cognitiva dos indivíduos para se expressarem através desses signos, em múltiplas combinações, formas e simbologias a fim de representar a experiência e o conhecimento.
As variações são as diferenças existentes na prática de uma língua, mas, ainda assim, existem certos enunciados comuns a todos os membros de uma comunidade linguística, com um mesmo sistema de regras descritíveis, que permitem a essas pessoas se comunicarem e se compreenderem.
IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Ipol: Instituto de Investigação e Desenvolvimento em Política Linguística.
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor.
3. No Brasil, a língua portuguesa é reconhecida pela Constituição de 1988 como a língua oficial e, portanto, como direito e garantia fundamental. Leia a postagem ao lado, do grupo de pesquisa Atlas das Línguas em Contato na Fronteira (ALCF), da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS-SC), sobre o assunto.
ATLAS DAS LÍNGUAS EM CONTATO NA FRONTEIRA. [Multilinguismo]. [Chapecó], 1 dez. 2022. Instagram: alcf_uffs. Disponível em: www.instagram.com/p/ClpC0zZuTS_.
Acesso em: 9 ago. 2024.

2. Estão corretas as afirmações b e c . A afirmação a está incorreta, pois a codificação de programação é considerada linguagem, mesmo que artificial, pois respeita um conjunto de regras sintáticas próprio que permite expressar instruções específicas da área.
3. b) Acolha as hipóteses dos estudantes que levem em consideração as discussões sobre a presença de outras línguas coexistindo no Brasil. Espera-se que os estudantes compreendam que a crença do monolinguismo perpassa pelo preciosismo defensor de uma língua culta, que se baseie apenas na língua portuguesa, por ser o idioma oficial, além de questões políticas que envolvem o reconhecimento das línguas minoritárias, o que implicaria políticas públicas de inclusão dessas comunidades linguísticas nos contextos formais de educação, saúde etc.
a) Pesquise em um dicionário, impresso ou on-line, os termos alóctones e autóctones e explique como eles podem estar associados às línguas.
b) Com os colegas, levante hipóteses que expliquem por que no Brasil persiste a crença de monolinguismo.
c) Qual é o posicionamento do grupo de pesquisa, implícito na postagem, sobre a questão linguística no Brasil?
O posicionamento do grupo é de que o Brasil não é um país monolíngue.
d) Que estratégia é usada pelo grupo para validar esse posicionamento?
A postagem cita dados do Ipol e do IBGE que apontam a coexistência de mais de 330 línguas faladas no Brasil, além da língua portuguesa.
Multilinguismo

Trata-se da coexistência de diversas línguas em um local, país ou instituição, cujo uso é necessário para a comunicação em determinados contextos sociais. As pessoas que se expressam e se comunicam em diversas línguas são consideradas plurilíngues .
A língua é uma atividade social, cultural e política, promovida pela comunicação e para ela. Para facilitar a análise, costuma-se separá-la por níveis: fonético-fonológico, morfológico, sintático, semântico e pragmático. Apesar da segmentação, esses níveis também podem ser analisados de modo combinado, pois eles se relacionam durante a enunciação.
4. Releia os trechos a seguir, do podcast Ciência Suja e faça o que se pede.
I. THEO: O nosso editor que você ouviu aí, o Felipe Barbosa, matou todo mundo do Ciência Suja de inveja e em outubro foi pro encontro anual do Instituto Serrapilheira […].
II. CAROL: […] Então Baía da Traição viria dessas supostas ‘traições’ dos indígenas – que na real só estavam tentando preservar o próprio território, né.
III. VICTOR JUNIOR LIMA FELIX
Eu tô fazendo essa ligação entre o pedólogo, o técnico ali, e o membro da comunidade, que também sou.
a) Em cada um dos três trechos, há certas expressões contraídas. Identifique-as e registre no caderno suas formas sem contração.
3. a) Segundo o dicionário Michaelis on-line, define-se alóctone como: aquele que “não é originário do país onde habita”; e autóctone como: “natural do país em que habita e proveniente das raças que ali sempre habitaram […]”. Em relação às línguas, portanto, pode-se compreender que as autóctones são as línguas dos próprios habitantes, como as línguas indígenas e a língua portuguesa no Brasil. Já as línguas alóctones são aquelas estrangeiras faladas no país, que não são naturais do local, como o pomerano e o talian, falados em algumas comunidades do Espírito Santo e do Rio Grande do Sul, respectivamente.
b) Por que essas expressões estão contraídas? Para explicar, considere o contexto de enunciação de cada uma.
c) Você costuma fazer contrações de palavras? Em que contextos? Pro = para o; né = não é; tô = estou.
Nível fonético-fonológico de análise
4. c) Respostas pessoais. Espera-se que os estudantes reconheçam os contextos de informalidade, os de diálogo com os grupos a que pertencem e os que representam a fala, como as mensagens instantâneas.
A Fonética e a Fonologia analisam os sons da língua e suas realizações de fala e escrita. Incluem-se nessa análise as contrações típicas da fala, a tonicidade (sílabas tônicas), a distinção entre palavras, entre outras possibilidades.
A análise fonética é feita a partir de uma representação internacional dos sons segundo seu ponto de articulação no aparelho fonador (boca, dentes, palato, língua, glote e respiração). Esses sons são representados no Alfabeto Fonético Internacional, e cada som é apresentado entre colchetes ( [ ] ).
4. b) A primeira e a segunda estão contraídas para criar aproximação com a linguagem oral; e a terceira, para representar com precisão o som da fala do entrevistado, considerando que se trata de uma transcrição da fala dele. As contrações também refletem o estilo de comunicação típico dos meios informais e das mídias sociais, onde a linguagem é mais próxima da fala cotidiana.

A análise fonológica é feita a partir do estudo dos fones, que são as unidades sonoras da fala. Em uma transcrição fonológica, eles são apresentados entre barras ( / / ) e se agrupam conforme sua possibilidade de atribuir distinções de significação entre as palavras.
Por exemplo: ao analisar foneticamente as palavras sexta e cesta , observa-se que todos os pontos de articulação delas são iguais. Sua representação no Alfabeto Internacional Fonético seria [ses-ta].
Ao analisar os fones dessas duas palavras, no entanto, percebe-se os diferentes fonemas /s/, /x/ e /c/, ainda que seus sons sejam semelhantes.
5. Agora, reúna-se com um colega para reler outro trecho do roteiro de podcast e responder às questões a seguir.
THEO : Aí ainda tem uma criança da comunidade no meio do pessoal e, no segundo plano, um Victor uns bons anos mais novo, de calça e camiseta. O Victor parece que está com um olho em um caderninho na mão dele e o outro num buraco na terra bem grande que mostra diferentes camadas do solo, ou um perfil do solo, como se fala.
a) Ao observar a forma das palavras destacadas, é possível identificar sua classe gramatical. Tente relembrar essas classes e anote-as no caderno
b) Copie no caderno o trecho a seguir e a afirmação que o completa.
Ter: verbo; bom: adjetivo; mais: advérbio; caderninho: substantivo; grande: adjetivo. A afirmação que completa o trecho é a I.
O objetivo de classificar gramaticalmente as palavras é...
O objetivo é compreender a origem das palavras e possibilitar a formação de outras, análogas, de acordo com as necessidades de uso dos falantes.
I. formar agrupamentos por semelhança de formatos e funcionalidades. Trata-se de uma categorização para identificar padrões gramaticais.
II. formar grupos de palavras para que seja possível realizar análise morfológica.
III. formar grupos de palavras por semelhança de formatos para que seja possível aprender a gramática de forma mais segmentada.
c) Qual é o objetivo de conhecer o processo de formação das palavras na língua?
Nível morfológico de análise
A palavra morfologia deriva do grego, em que morfo = morphe (forma) e logia = logos (estudo). Assim, trata-se do estudo da forma das palavras, da sua estrutura, dos processos de formação e, consequentemente, da classificação em agrupamentos por semelhança dessas formas, ou seja, das classes gramaticais.
6. Leia a tira a seguir.

6. a) “As palavras que inventamos são interessantes… Agora vamos inventar sintaxe!”. Espera-se que os estudantes encontrem a estrutura oracional mais frequente na língua portuguesa sem mudar os constituintes dela, buscando para isso a ordem direta.
a) Ao ler a tira, como você organizaria a fala do homem?
b) E xplique o raciocínio utilizado para fazer essa organização.
6. c) É possível depreender que sintaxe tem sentido de “ordem dos elementos que constituem a oração, para que ela seja compreensível”.
c) Com base na fala do homem, o que é possível depreender a respeito de sintaxe?
Nível sintático de análise
A Sintaxe é o estudo da ordenação dos elementos que constituem as orações, para que elas tenham um sentido. No nível textual, também estabelece relações de ligação entre essas orações, promovendo, assim, coerência e coesão para possibilitar que haja sentido naquilo que se expressa.
7. Leia o meme a seguir e copie no caderno as afirmações corretas sobre ele.




Acesso em: 11 out. 2024.
I. Para compreender o meme, é preciso saber quem são os homens retratados nele e relacioná-los com o texto escrito.
II. As palavras gravidade, relativamente e evoluir são imprescindíveis para o efeito de humor do meme.
III. O sentido do diálogo entre os homens retratados faz referência à relação entre as teorias que eles idealizaram, e é isso que causa o efeito de humor do meme.
IV. O primeiro retratado é Isaac Newton, e a palavra gravidade tem relação com suas descobertas sobre a força gravitacional.
V. À direita de Newton, está Albert Einstein, físico criador da teoria da relatividade, daí a relação com a palavra relativamente.
VI. O homem na terceira imagem é Aristóteles, considerado o precursor da argumentação, daí a relação com a palavra discussão, imprescindível para conferir o efeito de humor do meme.
VII. O efeito de humor do meme só pode ser compreendido a partir do conhecimento do leitor acerca de cada um dos teóricos e de suas teorias.
Níveis semântico e pragmático de análise
6. b) Resposta pessoal. É possível que os estudantes tenham dificuldade para explicar como organizaram os elementos das orações, porque acionam para isso a gramática intuitiva, interiorizada, inerente a todos os falantes de uma língua natural, devido aos conhecimentos cognitivos, psicológicos e linguísticos que adquiriram ao longo da vida. De todo modo, a organização se faz pelo conhecimento que os estudantes têm da ordenação frasal.
A Semântica pode ser compreendida como o estudo dos sentidos expressos pelos enunciados em um determinado contexto. É através da análise semântica que se identificam os efeitos de sentido.
O nível pragmático pode ser compreendido como o contexto, ou seja, o momento da prática da situação enunciativa em si. Assim, é possível observar a interação quando ela ocorre e analisá-la de modo a compreender seu sentido na íntegra.
7. Estão certas as afirmações I, II, IV, V e VII. A afirmação III está incorreta, pois o diálogo entre os homens não faz referência à relação entre as teorias que idealizaram, faz apenas uma citação por meio de uma palavra que remete a elas. A afirmação VI está incorreta, pois o homem retratado é o biólogo Charles Darwin (1809-1882), criador da teoria da evolução das espécies.
8. c) O positivismo, idealizado pelo pensador francês Auguste Comte (1798-1857), tem origem entre os séculos XIX e XX, e sua premissa é de que o único conhecimento válido é o científico materialista, à parte de qualquer metafísica. É o que Walter defende. Já o idealismo se iniciou com Platão (c. 427 a.C.-347 a.C.) e, no século XVIII, foi ampliado por meio das ideias do filósofo alemão Immanuel Kant (1724-1804). Suas premissas consideram que o conhecimento é uma rede complexa que se constrói por meio da coexistência de ideias, da razão e da realidade prática, não de cada uma delas separadamente. separadamente.
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
A realização da língua e da linguagem ocorre através de enunciados que os falantes de uma língua – os enunciadores – produzem em diversos contextos de enunciação, ou seja, de práticas sociais. Os gêneros textuais, por exemplo, constituem enunciações, porque são estruturas emergentes dessa prática social através da linguagem. Para compreender esses conceitos, reflita sobre as questões a seguir.
8. Leia outro trecho de roteiro do podcast Ciência Suja, em que os apresentadores expõem questões que problematizam a definição de ciência.

É provável
diversa decorra das formações de cada um: Walter é bioquímico e entende a ciência de modo mais prático; enquanto Ricardo é filósofo e pensa a ciência de forma mais abstrata, reflexiva e
CAROL : Mas para se aprofundar na definição de ciência e pra colocar isso no chão também, a gente entrou em contato com o Walter e o Ricardo Terra. O Walter é bioquímico e o Ricardo é filósofo. Os dois são da USP e lançaram um livro chamado ‘Filosofia da ciência: fundamentos históricos, metodológicos, cognitivos e institucionais’. E, sim, eles são irmãos.
SONORA WALTER TERRA
[Theo] Aliás, uma questão de ordem, de curiosidade como uma pessoa que tem cinco irmãs aqui: como é que foi para vocês construir esse projeto junto?
[Walter] Brigar nunca brigamos, mas discordar, faz décadas que a gente discorda. Décadas. Então esse livro aí começou meio um gozando do outro, que eram pensamentos muito fechados. Ele me chamava de positivista e eu chamava ele de idealista. E assim foi.
CAROL : Esse aí é o Walter, o bioquímico. E quando ele faz essa brincadeira de positivista-versus-idealista com o irmão, ele está na verdade tocando num ponto que dói até hoje nesse papo do que é ciência.
PODCAST CIÊNCIA SUJA. [Roteiro T04E05 – A ciência é para todos]. [S l.]: Ciência Suja, [dez. 2023]. Disponível em: www.cienciasuja.com.br/_files/ugd/c6b2b2_454e2ad850074d48b53d05b610fb4962.pdf. Acesso em: 9 ago. 2024.
a) Há uma divergência de pontos de vista entre Walter e Ricardo como enunciadores do conceito de ciência. Aponte essa divergência.
Walter é considerado pelo irmão como positivista em termos de compreensão sobre ciência, enquanto Ricardo é considerado idealista pelo irmão.
b) A partir do trecho lido, é possível depreender a origem dessa divergência?
c) Faça uma breve pesquisa e registre no caderno informações sobre a ideologia de cada um dos pontos de vista que estão em conflito entre os irmãos no trecho.
d) Do texto lido, extraia um exemplo de cada um dos itens a seguir e anote-os no caderno.
• Enunciadores (quem fala).
• Enunciações (atos de fala).
Carol, Theo e Walter. Roteiro de podcast, áudios de entrevista, gravação de podcast, no momento em que ocorrem.
• Enunciados (o produto do ato de fala).
9. Releia este trecho sobre a definição de língua.
Cada um dos trechos do roteiro (sejam elaborados, sejam transcritos das entrevistas), por exemplo: “Mas para se aprofundar na definição de ciência e pra colocar isso no chão também, a gente entrou em contato com o Walter e o Ricardo Terra”.
Por outro lado, constata-se que, no seio de uma comunidade linguística dada, todos os membros dessa comunidade (todos os falantes de português, por exemplo) produzem enunciados que, a despeito das variações individuais, lhes permitem comunicar-se e compreender-se, e que repousam sobre um mesmo sistema de regras e relações possíveis de descrever.
• De acordo com seus conhecimentos, o que é produzir enunciados?
Produzir enunciados é falar ou escrever.
Enunciado, enunciação e enunciador
Enunciado é todo texto oral ou escrito produzido em uma determinada situação comunicativa. Ao ato de comunicação, no momento em que ocorre, dá-se o nome de enunciação. Enunciadores são os envolvidos diretamente no ato de comunicação, ou seja, quem fala ou quem escreve, no ato de produção. Esses elementos compõem uma situação de enunciação, que também pode ser compreendida como situação comunicativa.

Texto e interlocutor
Existem outros elementos envolvidos no processo de produção e recepção dos textos. Conheça-os a partir das reflexões propostas a seguir.
10. Leia a tira e responda às questões a seguir.
10. a) A cobra do último quadrinho acredita que a explicação sobre o universo só será compreensível a outros cientistas, não a todas as pessoas. É um complemento que quebra a expectativa em relação à resposta que a mesma cobra deu no segundo quadrinho, quando faz pensar que os cientistas explicarão o Universo a todos.
10. b) A crítica apresentada é de que o conhecimento científico fica restrito à academia, não sendo acessível em conteúdo e forma para ser amplamente divulgado e, assim, alcançar todas as pessoas.

a) Como a resposta da cobra no último quadrinho se relaciona em sentido à pergunta feita pela cobra no primeiro quadrinho?
b) Qual é a crítica apresentada na tirinha?
c) Em sua opinião, de que modo os cientistas poderiam reverter essa crítica?
Texto e interlocutores
Texto é uma manifestação verbal construída por meio de elementos linguísticos selecionados e organizados por falantes, com o objetivo de permitir aos interlocutores, durante a interação, a depreensão de conteúdos, sentidos, ideias, posicionamentos, entre outros conhecimentos, a partir de operações cognitivas realizadas na prática social em que esse texto está inserido.
Interlocutores são todos os envolvidos na prática social do texto, sejam eles o produtor, os leitores, os leitores imaginados pelo produtor etc. Por exemplo: em um debate, o argumento criado como texto tem o objetivo de persuadir não só o outro debatedor mas também a plateia. Todos são, portanto, interlocutores do texto.
Fatores de textualidade
A área de estudos de Linguística Textual pressupõe que, para um texto ser considerado como tal, ele precisa apresentar textualidade com base em alguns fatores que serão retomados ao longo dos seus estudos linguísticos. Eles são divididos entre fatores linguísticos e fatores pragmáticos. Os fatores linguísticos são a coerência e a coesão, e os fatos pragmáticos são a intencionalidade, a aceitabilidade, a situacionalidade, a informatividade e a intertextualidade.
10. c) Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes percebam a importância de adequar os textos e sua linguagem a outros contextos não acadêmicos, para que a ciência circule na sociedade. Procure recuperar o exemplo que os estudantes já analisaram neste capítulo de uma produção que buscou traduzir a linguagem científica para o público geral: o roteiro de podcast. Por fim, também retome o papel da escrita jornalística como divulgadora científica.

1. Leia a tira e responda às questões a seguir.

ARMANDINHO. [Cestas, sestas e sextas]. [S. l.], 4 dez. 2015. Facebook: tirasarmandinho. Disponível em: www.facebook.com/tirasarmandinho/photos/np.1449244982810250.100005065987619/1085604124818226/. Acesso em: 12 ago. 2024.
a) Que conhecimentos são acionados para compreender a tira?
b) De que modo a análise fonético-fonológica das palavras contribui para o efeito de humor?
2. Leia o cartum a seguir e copie no caderno as afirmações corretas em relação a ele.
1. a) É preciso conhecer as significações de cada uma das palavras, considerando que a sonoridade delas é a mesma ou muito parecida. Comente com os estudantes que, ainda que não se saiba o significado de cada palavra, a relação entre a imagem e o texto permite essa compreensão.
1. b) O efeito de humor é construído a partir da compreensão de que as três palavras têm sonoridade parecida; no entanto, são escritas de modos diversos. O menino transita, através das imagens, pelos três significados.

BANDEIRA, Guilherme. [Iluminachos]. [S. l.], 9 jun. 2024. Instagram: guilherme_bandeira. Disponível em: www.instagram. com/p/C7_sk0wOHWs. Acesso em: 12 ago. 2024.
I. Para compreender o cartum, é preciso acionar os níveis morfológico e semântico-pragmático de análise, pois a palavra é composta de duas partes, ilumi e nachos, fazendo referência aos Illuminati, sociedade secreta do século XVIII, por meio de uma sátira com o alimento nacho.
II. O humor do cartum se constrói no diálogo entre imagem e palavra, em que a imagem representa o sentido da palavra iluminachos em diálogo com as práticas que se imagina serem próprias dos Illuminati.
III. Para compreender o cartum, é relevante acionar o nível fonológico de análise, para criar correspondência sonora entre Illuminati e Iluminachos.
IV. O humor do cartum se constrói exclusivamente por meio da correspondência fonético-fonológica entre a palavra Iluminachos e sua referência, os Illuminati.
Estão corretas as afirmações I, II e III. A afirmação IV está incorreta, pois o humor é construído não só pela correspondência fonético-fonológica entre palavras mas também pelo apoio dos níveis morfológico e semântico-pragmático e pela ilustração.
3. a) Em relação à primeira imagem, depreende-se que a fala entre aspas tem a adulta como enunciadora, já que a menina está com a cabeça baixa e, aparentemente, apenas ouvindo. O contexto pode ser compreendido como uma diretora de escola, por exemplo, pedindo a uma estudante que se retire da sala dela. Já na segunda imagem, o enunciador é o homem, e a situação indica um casal. Por isso, a mensagem se relaciona a um convite para um encontro entre eles.
3. Leia a imagem e responda às questões a seguir.


3. b) O contexto pode ser compreendido como a situação de enunciação, e, nesse caso, descobrir quem são os interlocutores e as circunstâncias modifica a compreensão do enunciado.
4 EXEMPLOS de que o contexto pode mudar tudo. [S. l.]: Português é legal, 22 ago. 2014. Disponível em: www.portugueselegal.com. br/4-exemplos-de-que-o -contexto-pode-mudar-tudo. Acesso em: 8 ago. 2024.
a) Identifique o enunciador da frase entre aspas em cada imagem e explique o sentido dela expresso em cada uma das situações.
b) E xplique a afirmação “O contexto pode mudar tudo”, contida na imagem, e relacione-a ao restante do texto.
c) Que nível de análise da língua é acionado para compreender o texto e a imagem?
4. Leia este meme científico.
O nível de análise semântico-pragmático.

ARTES DEPRESSÃO. Einstein zueiro. [S. l.], 12 fev. 2019. Facebook: ArtesDepressao. Disponível em: https://www.facebook.com/ArtesDepressao/photos/einstein -zueiroartes-depress%C3%A3o/1917323011730454/. Acesso em: 24 set. 2024.
a) Como é construído, linguisticamente, o humor do meme?
b) Q ue conhecimento é necessário acionar para compreender o contexto? Nesse sentido, qual(is) o(s) nível(is) de análise linguístico(s) acionado(s)?
4. b) É preciso acionar conhecimentos sobre representações de onomatopeia de risos em mensagens de texto em contextos eletrônicos, como aplicativos de mensagem instantânea, comentários de redes sociais, entre outros, bem como conhecimentos sobre os nomes e as siglas de dois elementos químicos. É relevante também saber quem é a personalidade apresentada na imagem, Albert Einstein, pois essa informação complementa o sentido, embora não seja imprescindível a ele. Acionam-se, portanto, conhecimentos fonético-fonológicos e semântico-pragmáticos.
4. a) As risadas representadas por escrito no contexto de mensagens eletrônicas, kkk e hehehe, são associadas a elementos químicos (K e He). São, também, associadas à imagem de Albert Einstein, físico e matemático, como se ele estivesse rindo das duas formas.
Nesta seção, você irá se juntar a dois colegas para elaborar o roteiro de um episódio de podcast e para gravá-lo.

Gênero
Roteiro de episódio de podcast
Interlocutores
Comunidade escolar, formada por outros estudantes de diversas faixas etárias, professores e funcionários administrativos.
Propósito/finalidade
Responder à questão: o que é ciência?
Publicação e circulação
Alto-falantes da escola, na hora do intervalo.
1. Leia, a seguir, outro trecho do roteiro do podcast Ciência Suja em que a pergunta a que você deve responder é feita a diferentes jornalistas científicos, membros de um grupo de divulgadores científicos chamado RedeComCiência . As respostas de Isis Rosa Nóbile Diniz, coordenadora de comunicação do Instituto de Energia e Meio Ambiente, e de Meghie Rodrigues, jornalista de ciência e meio ambiente são apresentadas no trecho.
ISIS DINIZ
Ciência é uma maneira de tentar explicar o mundo e seus fenômenos de forma que o resultado, se repetida essa explicação, dê no mínimo semelhante. […]
MEGHIE RODRIGUES
1. a) Ao conhecimento científico. Caso os estudantes tenham dificuldade para responder à questão, solicite que revisitem a atividade 3 da seção Estudo do Gênero Textual
Ciência para mim é uma forma eficaz e interessante de conhecer a realidade e resolver problemas. E funciona porque tem um método sólido e um monte de gente para garantir que esse método seja seguido. E é uma construção social que funciona justamente porque não depende da vontade ou da iluminação de um fulaninho, ou de outro. E é um sistema que vai se ajustando conforme ele avança. Então bem legal, né.
PODCAST CIÊNCIA SUJA. [Roteiro T04E05 – A ciência é para todos]. [S l.]: Ciência Suja, [dez. 2023]. Disponível em: www.cienciasuja.com.br/_files/ugd/c6b2b2_454e2ad850074d48b53d05b610fb4962.pdf. Acesso em: 9 ago. 2024.
a) As respostas de Isis Rosa Nóbile Diniz e Meghie Rodrigues estão mais relacionadas ao conhecimento científico ou aos saberes tradicionais?
b) Em sua opinião, é possível relacionar os saberes tradicionais à explicação de ciência?
Resposta pessoal. Após a leitura do trecho de roteiro de podcast, na seção Estudo do Gênero Textual, espera-se que os estudantes compreendam que os saberes tradicionais podem, de alguma maneira, contribuir para o exercício científico. Explique que esse pode ser um recorte temático escolhido por eles na produção do podcast.
1. Como o tema do episódio já está estabelecido, o próximo passo é definir o formato do podcast. Lembre-se de que são muitas as possibilidades: entrevista com especialistas sobre o tema, narrativa histórica, podcast de divulgação científica com as últimas pesquisas sobre o assunto, entre outras possibilidades.

2. Escolhido o formato do podcast, é necessário pesquisar informações e conteúdos que ajudarão na produção do roteiro. Para isso, utilize fontes impressas ou on-line.
3. A sua função e a de seus dois colegas precisam ser definidas logo após a pesquisa. Para isso, algumas ações devem ser consideradas: escrita do roteiro; produção do episódio, com funções como gravar os áudios; apresentação do episódio; e edição do episódio.
4. Para elaborar o roteiro, é necessário seguir estes passos.
• Definir o tempo de cada episódio. Recomenda-se que cada episódio não exceda cinco minutos.
• Organizar as informações colhidas na pesquisa e suas fontes, escolhendo quais serão apresentadas.
• Selecionar os momentos nos quais a vinheta entrará e decidir se o podcast contará com outros efeitos sonoros.
• Redigir as falas de abertura e de fechamento, lembrando-se de incluir os nomes do programa e do apresentador, uma breve apresentação do tema e o agradecimento pela disponibilidade da audiência.
5. Para gravar o podcast, é preciso seguir estes passos.
• Selecionar um programa de gravação e edição de áudio no celular ou no computador.
• Fazer a gravação quantas vezes forem necessárias, para garantir a qualidade sonora.
• Escolher um trecho de música ou som específico para ser a vinheta do programa.
6. Para editar o podcast, é importante utilizar o roteiro como guia.
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor. Dê atenção especial às marcas do texto oral que podem ser inseridas no roteiro escrito para conferir naturalidade de fala a ele, como contrações de expressões, alternância de vozes em diálogo, sintaxe da língua oral. Para isso, leia o texto produzido em voz alta ou grave-o e escute-o para verificar se essa naturalidade foi alcançada. Se necessário, faça adequações por escrito, registrando as marcas orais. Outro ponto de atenção que se relaciona a essa naturalidade é escolher as palavras e o conteúdo de modo que a mensagem alcance os interlocutores
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor
1. Com os colegas, leia as questões a seguir e utilize-as como guia para a avaliação e reescrita do roteiro de podcast
• A p esquisa feita para o tema foi suficiente? Seria importante acrescentar alguma ação nesse sentido?
• O formato escolhido conseguiu responder à questão “o que é ciência?” para o público?
• A vinheta, a apresentação e o fechamento foram devidamente executados?
• Na gravação, apresentador e equipe técnica respeitaram o roteiro?
• O áudio da gravação está claro e sem interferências?
2. Após pensar sobre as questões, veja se o episódio produzido precisa de mais edições. Se for o caso, retome o roteiro, faça modificações e tente a regravação.
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor.
1. Para compartilhar os podcast s, organize coletivamente um calendário de reprodução dos episódios na hora do intervalo, para que toda a comunidade escolar possa escutá-los. O link de acesso ao podcast poderá ser compartilhado também por meio das redes sociais da escola, por mensagens digitais ou por mensagens impressas ou escritas à mão. O importante é pensar sobre a melhor forma de fazer esse conteúdo circular e chegar à comunidade escolar.
1. A Literatura de Informação, vertente do Quinhentismo, inclui textos em prosa, como cartas e crônicas, que descrevem as características dos territórios a serem colonizados. Enquanto alguns pesquisadores a veem apenas como documentação histórica, outros acreditam que esses textos também retratam a paisagem, os povos indígenas e os primeiros passos da colonização.
Neste capítulo, o estudo literário foi direcionado para a compreensão do que é Literatura de Informação, bem como para a percepção da colonização para diferentes grupos: europeus, indígenas e quilombolas. O estudo de gênero textual tratou dos modos de elaboração de podcasts e de sua abrangência no contexto jornalístico-midiático. Todos esses estudos foram perpassados por diversos conceitos: de língua e linguagem, de enunciação, de níveis de análise da língua e de texto e interlocutor.

Agora, chegou o momento de sintetizar essas aprendizagens. Para tanto, procure responder com suas palavras às questões a seguir. Se necessário, releia alguns dos conceitos para que seja possível elaborar sua resposta
1. Como se define a Literatura de Informação?
2. A partir da leitura dos textos literários estudados no capítulo, quais diferenças entre os pontos de vista dos europeus e dos indígenas podem ser notadas a respeito do processo de colonização?
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor.
3. Cite três características do gênero textual podcast.
4. Qual é a importância dos podcasts para o meio jornalístico-midiático?
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
5. Quais são as diferenças entre os níveis de análise da língua?
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
6. Qual é a importância da situação de enunciação para a compreensão de um enunciado?
3. Em podcasts, nota-se a mistura de oralidade e escrita. Eles podem ser divididos em segmentos, tais como: apresentação ou introdução, vinheta, desenvolvimento do tema e encerramento. É comum a presença de recursos sonoros e a divisão em temporadas e episódios.
Além da compreensão do conteúdo, é importante refletir sobre seu desempenho e sua aprendizagem ao longo do capítulo. Para isso, no caderno, reproduza o quadro a seguir e responda às questões. Em seguida, converse com os colegas e com o professor sobre formas de aprimoramento de sua aprendizagem e anote-as na coluna de observações.
Ao longo do estudo do capítulo, percebo que...
… realizei as tarefas que estavam sob minha responsabilidade.
… compreendi e consegui sintetizar os conceitos literários, de gênero textual e linguísticos.
… produzi com empenho de aprendizagem todas as propostas de pesquisa.
… considerei as necessidades do grupo do qual participei na produção textual e agi com colaboração e ética em relação às minhas responsabilidades e ao grupo.
Fui proficiente




Preciso aprimorar




Observações




6. A situação de enunciação é fundamental à compreensão de um enunciado porque fornece o contexto necessário para interpretar o significado completo do discurso. O contexto inclui fatores como o contexto comunicativo, o contexto cultural e social, o contexto temporal e a intenção do enunciador.
1. Resposta: alternativa b
A imagem reproduz a fachada de um supermercado em uma região de fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. Essa fachada traz a palavra supermercado em seis línguas diversas, o que demonstra preocupação em informar turistas e outras pessoas moradoras da região, que falem esses idiomas, sobre a presença de um supermercado ali. Há, portanto, preocupação com o planejamento linguístico nesse espaço.
Muitos assuntos abordados neste capítulo têm sido objetos de questões de vestibulares e provas de ingresso. A questão comentada, a seguir, é do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Leia sua abordagem e atente para o formato de elaboração, a fim de que seja possível interpretá-la corretamente. Em seguida, no caderno, registre a alternativa correta.
1. (Enem)


A questão começa com a leitura de uma imagem. Para iniciar sua interpretação, faça uma descrição mental dos elementos presentes nela.
As fontes do texto são chamadas de paratextos. Elas sempre apresentam informações que podem auxiliar na interpretação da imagem. Nesse caso, trata-se de um artigo do qual ela foi extraída, e a palavra adaptado se refere a modificações feitas na imagem ou no texto original para que pudesse ser utilizada na questão.
A fotografia exibe a fachada de um supermercado em Foz do Iguaçu, cuja localização transfronteiriça é marcada tanto pelo limite com Argentina e Paraguai quanto pela presença de outros povos. Essa fachada revela o(a)
a) apagamento da identidade linguística.
b) planejamento linguístico no espaço urbano.
c) presença marcante da tradição oral na cidade.
d) disputa de comunidades linguísticas diferentes.
e) poluição visual promovida pelo multilinguismo.
2. (Enem)

2. Resposta: alternativa a
Os itens sublinhados no enunciado da atividade são conceitos-chave para sua compreensão porque contextualizam a enunciação da imagem para além do que se mostra nela, localizando-a geograficamente. Essas informações expõem o recorte do assunto através do qual a imagem deve ser lida.
Esse anúncio publicitário propõe soluções para um problema social recorrente, ao
a) promover ações de conscientização para reduzir a violência de gênero em eventos esportivos.
b) estimular o compartilhamento de políticas públicas sobre a igualdade de gênero no esporte.
c) divulgar para a população as novas regras complementares para as torcidas de futebol.
d) informar ao público masculino as consequências de condutas ofensivas.
e) regulamentar normas de boa convivência nos estádios.
A campanha reforça a necessidade de respeitar às mulheres, destacando atitudes aceitáveis e inaceitáveis no ambiente esportivo. Termos como torcedoras e #respeitaasminas são enfatizados para conscientizar sobre a violência de gênero nesses espaços.

Com base em seus conhecimentos e na obra do artista Joseca Yanomami (1970-), apresentada na abertura do capítulo, responda às questões a seguir.
1. Os desenhos do artista costumam representar o cotidiano do povo yanomami, animais e sonhos. Observando a obra, você consegue identificar características do bioma amazônico, território desse povo? Comente.
Respostas
Espera-se que os estudantes
identificar que as marcas coloridas representadas no chão podem remeter a pegadas de animais nativos; além disso, os indígenas estão caracterizados com penas e corpos pintados, elementos que evocam a fauna e a flora local. Na seção Estudo do Gênero Textual, o tema “Floresta Amazônica” será aprofundado.
2. Após 30 anos da homologação da Terra Indígena Yanomami, um artista indígena desse povo, pela primeira vez, fez uma exposição no Museu de Arte de São Paulo (Masp). Em sua opinião, qual é a importância de ocupar espaços como esse e mostrar obras produzidas por indígenas para preservar os saberes dos povos originários? Justifique.
3. Joseca faz uso do conhecimento adquirido em sua comunidade para compor seus desenhos. Em sua opinião, esses conhecimentos também poderiam ser transformados em um texto literário, como um poema, por exemplo? De que forma?
4. Em sua opinião, de que maneira a linguagem não verbal, predominante no desenho de Joseca, pode auxiliar na transmissão de saberes e conhecimentos de povos indígenas para outras comunidades?
5. Descreva como as cores e os elementos visuais presentes na obra de Joseca influenciam a percepção do observador sobre o conhecimento transmitido.
Avance até as páginas finais, na Oficina de projetos , e inicie a etapa "Buscar inspiração". Para essa atividade, não deixe de seguir as orientações e os caminhos que direcionam à criação de um cineclube sobre fake news

2. Respostas pessoais. É importante que, com base na análise da obra e do contexto que envolve a história de Joseca Yanomami, os estudantes percebam que a exposição das obras do artista contribuem para preservar e transmitir o conhecimento de seu povo.

• C ampo artístico-literário
• C ampo jornalístico-midiático
• C ampo das práticas de estudo e pesquisa
• Meio ambiente: Educação Ambiental
• Multiculturalismo: Diversidade Cultural
■ YANOMAMI, Joseca. Aiyanomaethëxapiripruu tëhë, xapiri pë ithuu ha i-naha pë kuai-. Prahaii hamë xapiri pë ithuu, ahete hamë xapiripë ithoimi.Kuëyarokamapëurihipëãha hayumamuumakii,aiyanomaeyamaki - xa. 2011. Tinta de caneta hidrográfica, lápis grafite e giz de cera sobre papel, 30 cm 3 42 cm. Acervo do Instituto Socioambiental, São Paulo. Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor

3. Respostas pessoais. É importante que os estudantes citem alguns recursos da linguagem poética, como o uso de figuras de linguagem, para descrever os elementos da natureza.
4. Respostas pessoais. Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
5. Na imagem, o artista utiliza diversas cores e grafismos, representados em pinturas corporais e no caminho percorrido pelos indígenas. Na seção Estudo da Língua, os estudantes poderão compreender mais sobre o conceito de gramática visual e sua relação com padrões culturais e sociais.

Você irá ler um trecho do poema épico Os Lusíadas, escrito pelo poeta português Luís Vaz de Camões (1524-1580) e publicado em 1572. O poema aborda o contexto das navegações portuguesas dos séculos XV e XVI e narra as aventuras de Vasco da Gama (1469-1524) e de sua tripulação que se lançaram ao mar a fim de encontrar a rota marítima para as Índias. O extenso poema se divide em dez cantos ou capítulos e é composto de 1 102 estrofes de oito versos cada. No trecho do “Canto X”, que você lerá a seguir, Tétis, deusa do mar na mitologia grega, recompensa Vasco da Gama e os tripulantes pelos seus feitos durante a jornada de navegação, entregando a ele a máquina do mundo. Respostas pessoais. Espera-se que os estudantes reconheçam que, considerando que o poema foi escrito por um autor português com o objetivo de enaltecer os feitos de seu povo, possivelmente, as ações dos navegadores portugueses serão retratadas de forma positiva.
Antes de iniciar a leitura do poema, discuta com os colegas as questões a seguir.
• Você acredita que Vasco da Gama e sua tripulação serão retratados de forma positiva ou negativa no trecho do poema que você vai ler? Explique.
• No poema, a máquina do mundo é entregue a Vasco da Gama. Esse conceito tem origem na literatura clássica e foi retomado por autores de diferentes períodos. Como você imagina que seja essa máquina e o que você acredita que ela pode simbolizar no contexto do poema? Discuta com os colegas.
Respostas pessoais. O objetivo da atividade é incentivar os estudantes a levantar hipóteses sobre o que pode ser a máquina do mundo para, em seguida, entrarem em contato com o conceito durante a leitura do poema e validarem as hipóteses levantadas.
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor
Canto X [
1 Depois que a corporal necessidade
2 Se satisfez do mantimento nobre,
3 E na harmonia e doce suavidade
4 Viram os altos feitos que descobre,
5 Tétis, de graça ornada e gravidade,
6 Para que com mais alta glória dobre
7 As festas deste alegre e claro dia,
8 Para o felice Gama assim dizia:
9 — Faz-te mercê , barão, a Sapiência
10 Suprema de co’os olhos corporais,
11 Veres o que não pode a vã ciência
12 Dos errados e míseros mortais.
13 Sigue-me firme e forte, com prudência,
14 Por este monte espesso, tu co’os mais.
15 Assim lhe diz e o guia por um mato
16 Árduo, difícil, duro a humano trato.

feito: acontecimento, obra. mercê: favor. Sapiência Suprema: representa Deus no contexto do poema.
17 Não andam muito que no erguido cume
18 Se acharam, onde um campo se esmaltava
19 De esmeraldas, rubis, tais que presume
20 A vista que divino chão pisava.
21 Aqui um globo vem no ar, que o lume
22 Claríssimo por ele penetrava,
23 De modo que o seu centro está evidente,
24 Como a sua superfície, claramente.
25 Qual a matéria seja não se enxerga,


esmaltar: enfeitar, adornar. lume: brilho, clarão. orbe: esfera, globo. verga: peça flexível, ripa. volver: virar.
sustido: sustentado. arquétipo: modelo exemplar. transunto: reprodução perfeita.
etéreo: elevado, divino. elemental: simples. rotundo: redondo. limado: polido, perfeito.
26 Mas enxerga-se bem que está composto
27 De vários orbes , que a divina verga
28 Compôs, e um centro a todos só tem posto.
29 Volvendo, ora se abaixe, agora se erga,
30 Nunca se ergue ou se abaixa, e um mesmo rosto
31 Por toda a parte tem; e em toda a parte
32 Começa e acaba, enfim, por divina arte;
33 Uniforme, perfeito, em si sustido,
34 Qual, enfim, o arquétipo que o criou.
35 Vendo o Gama este globo, comovido
36 De espanto e de desejo ali ficou.
37 Diz-lhe a deusa: — O transunto, reduzido
38 Em pequeno volume, aqui te dou
39 Do mundo aos olhos teus, para que vejas
40 Por onde vás e irás e o que desejas.
41 Vês aqui a grande máquina do mundo,
42 Etérea e elemental , que fabricada
43 Assim foi do saber, alto e profundo,
44 Que é sem princípio e meta limitada.
45 Quem cerca em derredor este rotundo
46 Globo e sua superfície tão limada ,
47 É Deus: mas o que é Deus, ninguém o entende,
48 Que a tanto o engenho humano não se estende.
CAMÕES, Luís de. Canto X. In: CAMÕES, Luís de. Os Lusíadas. [São Paulo]: O Estado de S. Paulo: Klick, [1999]. p. 270-272. (Coleção Vestibular).
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor
1. Após a leitura de algumas estrofes do “Canto X” de Os Lusíadas , retome a discussão proposta no boxe Primeiro olhar e responda às questões a seguir.
a) D e que forma os feitos de Vasco da Gama e de sua tripulação são descritos nas estrofes que você leu? Retire um exemplo do texto que justifique sua resposta.
Luís Vaz de Camões foi um poeta português. O autor estudou Teologia e Filosofia, entrando em contato com muitos textos clássicos que serviram de base para a filosofia humanista. Além de Os Lusíadas , Camões também escreveu poemas líricos, atribuídos a ele após a sua morte, que exploravam temas como o amor e a natureza. Camões escreveu o longo poema no período em que viajou à Índia em uma expedição liderada por Fernão Álvares Cabral (1514-1571), filho de Pedro Álvares Cabral (1467-1520). Na volta da viagem, a navegação naufragou, mas o autor conseguiu salvar a si mesmo e a seus manuscritos.

Espera-se que os estudantes percebam que, nos primeiros versos, há uma exaltação dos feitos de Vasco da Gama, que resultarão na entrega de um exemplar reduzido da máquina do mundo ao navegador. Tal construção positiva pode ser observada pelo uso de expressões como “As festas deste alegre e claro dia” (verso 7) e “felice Gama” (verso 8).
1. b) Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes percebam que, ao entregar a recompensa a Vasco da Gama, Tétis coloca os portugueses em um lugar de destaque na história do mundo e confere ao navegador um poder que só os deuses tinham. Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor.

b) Tétis, em retribuição aos feitos de Vasco da Gama, entrega a ele um protótipo da máquina do mundo. Em sua opinião, o que representa a entrega desse presente ao navegador português?
2. Releia os versos 9 a 12 e responda às questões a seguir.
a) Tétis explica a Vasco da Gama que ele verá algo que nem a ciência nem os mortais compreendem. Essa informação contribui para criar uma expectativa sobre a máquina do mundo. Qual é essa expectativa? Explique.
b) Identifique de que modo a ciência e a humanidade são caracterizadas por Tétis. Qual é o sentido construído com base nessa caracterização?
Essa informação atribui muita importância ao que será mostrado para Vasco da Gama, criando a expectativa de que ele irá ter acesso a um grande segredo conhecido apenas pelos deuses.
A ciência é caracterizada como vã; e a humanidade, como errada e mísera. Ao permitir que Vasco da Gama tenha acesso à máquina do mundo, Tétis coloca-o no mesmo patamar dos deuses e diferencia-o dos “errados e míseros mortais”.
c) O fato de os segredos da máquina do mundo serem revelados a Vasco da Gama possibilita a construção de algumas visões sobre o povo português. Identifique os itens corretos sobre a imagem atribuída a esse povo e copie-os no caderno.
I. A i deia de que um dos portugueses acessa o conhecimento da máquina do mundo sugere que esse povo tem uma função especial na história da humanidade.
II. A exclusividade do acesso aos segredos da máquina do mundo significa que os portugueses nunca enfrentarão desafios ou obstáculos em suas expedições.
III. O fato de os segredos da máquina do mundo serem revelados a Vasco da Gama sugere que os portugueses devem abandonar suas tradições e adotar uma nova cultura.
IV. A revelação da máquina do mundo a Vasco da Gama sugere que o povo português será responsável por levar o conhecimento a outras partes do mundo.
Estão corretos os itens I e IV.
O Humanismo foi um movimento cultural e intelectual que teve início na Península Itálica (principalmente em Florença, Roma e Veneza). Essa fase de transição entre as ideias medievais e as novas formas de pensar e de agir do mundo clássico deu origem ao Renascimento artístico entre os séculos XIV e XVI.
Enquanto a Idade Média, período anterior ao Humanismo, era marcada pelo teocentrismo, ou seja, pela ideia de que Deus é responsável por todos os acontecimentos, a Idade Moderna, período que surge a partir do pensamento humanista, é marcada pelo antropocentrismo, pensamento filosófico que compreende que o ser humano é responsável por suas ações e por desvendar o funcionamento do mundo.
O Humanismo promoveu um resgate dos ideais e uma reinterpretação das obras clássicas da Grécia e da Roma antigas, como as epopeias gregas de Homero (século VIII a.C.), Ilíada e Odisseia, e a do poeta romano Virgílio (70 a.C.-19 a.C.), Eneida. As estruturas dessas obras serviram como base para diversas produções literárias da época, como Os Lusíadas. Além disso, os ideais estéticos e intelectuais da cultura greco-romana foram integrados à cultura da época, que estava se constituindo. Tal integração pode ser observada pela valorização das proporções nas obras de arte e pela inserção do humano como foco das investigações e reflexões sobre o mundo, por exemplo. Na pintura, características como a valorização da anatomia humana e da racionalidade podem ser percebidas na obra A criação de Adão, do pintor italiano Michelangelo Buonarroti (1475-1564), apresentada a seguir.
4. c) Espera-se que os estudantes percebam que as características humanistas estão presentes no poema: retomada dos ideais clássicos da cultura greco-romana e valorização do indivíduo e da ciência, mas sem o abandono das crenças cristãs tão caras à monarquia e tão fortes na Idade Média. Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor.


■ MICHELANGELO. A criação de Adão. [ca. 1511]. Afresco, 280 cm 3 570 cm.
4. b) As crenças cristãs perpassam toda a construção da obra e são ressaltadas no trecho pela ideia de que é Deus quem permite o acesso ao conhecimento desvelado pela máquina do mundo, criação divina inacessível aos míseros mortais.
3. Em Os Lusíadas, há presença de elementos que remetem ao cristianismo e à mitologia grega. Esses elementos se misturam ao longo da narrativa.
a) Copie no caderno o quadro a seguir, indicando à qual matriz cultural remetem os elementos presentes nos trechos reproduzidos.
Viram os altos feitos que descobre,
Tétis, de graça ornada e gravidade. X
É Deus: mas o que é Deus, ninguém o entende, Que a tanto o engenho humano não se estende. X
Diz-lhe a deusa: — O transunto, reduzido
Em pequeno volume, aqui te dou
Do mundo aos olhos teus, para que vejas
Por onde vás e irás e o que desejas. X

b) Com base em seus conhecimentos e em suas respostas ao item anterior, o que a presença de visões de mundo tão diferentes revela sobre o contexto de produção da obra?
Características do Humanismo
Entre os ideais humanistas, pode-se destacar: a valorização da racionalidade e da ciência; a centralidade nos interesses dos indivíduos; e a rejeição da influência de seres sobrenaturais nas ações humanas. Contudo, esse resgate da racionalidade, da ciência e da subjetividade do indivíduo não significou o abandono total da fé cristã – muitos humanistas acreditavam que a razão e a fé podiam coexistir e se complementar.
Espera-se que os estudantes percebam que a presença desses elementos no poema revela que o autor ainda preserva características dos ideais do período medieval, mas também apresenta novas formas de pensar e de agir em acordo com o Humanismo.
4. Com base nas características do Humanismo e em sua leitura do poema, responda às questões a seguir.
a) É possível identificar uma valorização do indivíduo e da ciência em algum dos trechos do poema?
b) Como as crenças cristãs se fazem presentes no poema lido?
c) Como a maneira pela qual esses dois temas são explorados no poema revela características do período em que a obra foi escrita? Trechos
4. a) A valorização do indivíduo está presente no reconhecimento dos feitos de Vasco da Gama (e dos portugueses) por meio da entrega a ele da máquina do mundo; já a valorização da ciência pode ser identificada no acesso ao conhecimento e no domínio dos mares pelos portugueses (“para que vejas / Por onde vás e irás”).
5. No trecho lido, o acesso ao conhecimento é compreendido como algo divino, mas que se torna acessível a um mortal como forma de recompensa pelos feitos nas navegações portuguesas. Considerando o que você aprendeu sobre o Renascimento e o contexto de publicação da obra, responda: o que essa representação pode demonstrar sobre as diferentes visões de mundo que marcam a publicação de Os Lusíadas?
Classicismo

Espera-se que os estudantes percebam que essa representação revela uma coexistência equilibrada entre ciência e religião no período em que a obra foi escrita e publicada, o que é característico do momento de transição entre os dois modos de pensar (o teocêntrico e o antropocêntrico).
Foi um movimento artístico e cultural que teve origem na Itália, expandindo-se para outros países da Europa posteriormente. O movimento, que ocorreu durante o período do Renascimento, recebeu esse nome porque se inspirava nos ideais da Antiguidade clássica e procurava resgatar as produções intelectuais e o estilo artístico das civilizações greco-romanas. Por isso, as obras literárias do Classicismo costumam fazer referência à mitologia grega, prestando homenagem às narrativas que moldaram o pensamento clássico. Além disso, tais obras apresentam estrutura formal rigorosa, linguagem complexa e valorização do uso da razão e da ciência como formas de aquisição de conhecimento. Do ponto de vista temático, elas também costumam abordar temas entendidos como universais e atemporais: o amor, a guerra, a natureza e os dilemas da existência humana.
6. Em sua opinião, é possível afirmar que Os Lusíadas, obra produzida no Classicismo português, de fato aborda temas universais? Justifique sua resposta, considerando a diversidade cultural existente no mundo.
Respostas pessoais. Espera-se que os estudantes reconheçam que, apesar da tentativa de trabalhar temáticas
mais abrangentes, a obra publicada durante o Classicismo português não aborda temas comuns a todos os povos, pois apresenta um recorte específico de vivências e visões de mundo características do povo português à época das Grandes Navegações.
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor
7. O trecho do poema que você leu faz parte das sequências narrativas de Os Lusíadas. Nelas, são apresentados os relatos das histórias vividas por Vasco da Gama pelos tripulantes portugueses. A esse respeito, responda às questões a seguir.
a) Qual é o assunto central da história narrada no trecho lido?
b) Quem é o protagonista da história? No contexto do poema, quais valores esse protagonista representa?
c) A narração da história é feita em versos. Quais características essa escolha composicional atribui ao enredo? Explique.
7. a) O assunto central da história narrada é a apresentação da máquina do mundo a Vasco da Gama.
Poema épico
Poema épico ou epopeia é um gênero literário escrito em versos que narra eventos importantes para a cultura em que se insere. Na epopeia, tais eventos são contados como feitos heroicos, e suas personagens são inseridas em situações de perigo para alcançar o que desejam. O protagonista de uma epopeia costuma ser caracterizado como um herói que reproduz a coragem, a bravura e os valores do povo o qual representa, e a jornada do herói épico costuma ser atravessada pela intervenção de deuses ou outras figuras mitológicas, que ora podem auxiliá-lo, ora podem tentar impedi-lo de atingir o objetivo final.
Tradicionalmente, a epopeia se divide em cantos e apresenta a seguinte estrutura fixa.
• Proposição ou prólogo: apresentação dos heróis e do assunto que será narrado.
• Invocação: o narrador pede que as musas, divindades inspiradoras, o motivem para contar a história.
• Dedicatória: o poeta dedica a obra a alguém importante.
• Narração: desenvolvimento das ações e narração dos feitos heroicos do protagonista.
• Epílogo: conclusão da história e reflexões finais sobre os temas abordados na obra.
As obras literárias da Antiguidade clássica serviram de inspiração para os poetas do Classicismo que resgataram a estrutura e a temática do poema épico para legitimar e fortalecer a identidade portuguesa no contexto das Grandes Navegações.
7. b) O protagonista da história é Vasco da Gama. No contexto do poema, ele representa os valores de conhecimento, por ter tido acesso à máquina do mundo, e de bravura, por ter realizado grandes feitos durante suas navegações.
7. c) Espera-se que os estudantes reconheçam que a narração em versos atribui ao enredo cadência e musicalidade, emprestando ao que é narrado um ritmo de leitura diferente do texto em prosa.
8. a) Espera-se que os estudantes reconheçam que, ao dedicar o poema ao rei, o poeta chama a atenção do monarca para o valor do povo português, fortalecendo a imagem da nação portuguesa e inspirando, assim, a realização de feitos futuros.
8. b) Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes reflitam sobre o papel da obra na construção da identidade nacional portuguesa, levando em consideração o contexto histórico português e o pioneirismo de Portugal nas expedições marítimas do século XV.
8. Leia o trecho da dedicatória de Os Lusíadas apresentado a seguir e responda às questões.
Vós, poderoso Rei, cujo alto império
O Sol, logo em nascendo, vê primeiro;
Vê-o também no meio do hemisfério,
E quando desce o deixa derradeiro; Vós, que esperamos jugo e vitupério
Do torpe ismaelita cavaleiro,
Do turco oriental e do gentio
Que inda bebe o licor do santo rio:

Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor


CAMÕES, Luís de. Canto I. In: CAMÕES, Luís de. Os Lusíadas. [São Paulo]: O Estado de S. Paulo: Klick, [1999]. p. 13. (Coleção Vestibular).


a) Os versos que você leu homenageiam D. Sebastião, que era rei de Portugal com apenas 12 anos na época de publicação do poema. Tendo em vista a função da dedicatória em uma epopeia, por que Camões decidiu dedicá-la ao jovem rei de Portugal?
b) Elabore, no caderno, um parágrafo relacionando a dedicatória de Os Lusíadas às características da epopeia. Considere, em seu texto, o fato de o poema épico buscar exaltar os valores de um povo.
c) Realize uma pesquisa em livros didáticos de História sobre o rei D. Sebastião e a importância do monarca para a nação portuguesa. Compartilhe os resultados obtidos com a turma.
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
Releia o trecho do “Canto X” de Os Lusíadas apresentado no início desta seção, observando a estrutura formal: a disposição dos versos, as rimas, a escolha de palavras. Se você ler os versos em voz alta, a regularidade e o modo como a sonoridade das palavras contribuem para a construção de sentido na leitura chamarão a sua atenção. Tal efeito pode ser obtido pela medida dos versos. Nos estudos literários, faz-se a contagem de sílabas poéticas para identificar a métrica, e não das sílabas gramaticais.
A métrica de um poema pode ser calculada por meio da escansão, ou seja, pela contagem das sílabas poéticas de um verso. Para isso, é necessário separar o verso em unidades sonoras. Nessa contagem, os encontros entre vogais átonas em uma mesma palavra ou em palavras diferentes em um mesmo verso, bem como os encontros entre consoantes iguais, serão contados como uma única sílaba poética ou unidade sonora. As sílabas poéticas são contadas apenas até a última sílaba tônica do verso.
Observe, a seguir, exemplos de contagem de sílabas poéticas retirados do trecho da primeira estrofe de um soneto de Camões.
1 Trans/for/ma-/se o a /ma/dor/na/cou/sa a /ma/da, (A)
2 Por/vir/tu/de/do/mui/to i /ma/gi/nar; ( B)
3 Não/te/nho/lo/go/mais/que/de/se/jar, ( B)
4 Pois/em/mim/te/nho a /par/te/de/se/ja/da. (A)
CAMÕES, Luís de. Transforma-se o amador na cousa amada. In: CAMÕES, Luís de. Lírica. Seleção, introdução e notas: Massaud Moisés. São Paulo: Cultrix, 1972. p. 109.
Os versos do poema lírico de Camões são divididos em dez sílabas poéticas; logo, são classificados como versos decassílabos. Além disso, a estrofe apresenta regularidade nas rimas, pois o primeiro verso rima com o quarto e o segundo rima com o terceiro, formando um esquema de rimas ABBA .
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor.
Reúna-se com um colega para responder às questões 9 e 10.

9. a) Sim, todos os versos apresentam dez sílabas poéticas.
9. Releia a primeira estrofe do trecho de Os Lusíadas apresentado na abertura da seção e realize a contagem de suas sílabas poéticas. Depois, responda ao que se pede a seguir.
a) Em relação à quantidade de sílabas poéticas, os versos apresentam regularidade?
b) Considerando as características do Classicismo, você acredita que esse esquema se repita no decorrer dos 8 816 versos do poema? Explique.
10. Agora, analise o esquema de rimas do poema e, em seguida, responda a estas questões.
a) O mesmo esquema de rimas se repete em todas as estrofes no trecho transcrito? Justifique.
b) Na percepção da dupla, de que forma os esquemas métrico e de rimas contribuem para a musicalidade do poema?
9. b) Espera-se que a dupla presuma que essa métrica se repete, considerando as características do Classicismo, que preza pela regularidade da forma.
10. a) Sim. O primeiro verso rima com o terceiro e com o quinto; o segundo verso rima com o quarto e com o sexto; e o sétimo e o oitavo versos rimam entre si.
10. b) Resposta pessoal. O objetivo da questão é levar os estudantes a refletir sobre o modo como a estrutura métrica e as rimas influenciam na sonoridade do poema e atribuem musicalidade aos versos.
Nas páginas anteriores, você leu trechos do poema épico Os Lusíadas, em que Vasco da Gama é apresentado à máquina do mundo. No trecho, a máquina do mundo simboliza o acesso ao conhecimento que só os deuses tinham e, por ter sido apresentada apenas ao herói, simboliza que ele tem o privilégio de obter o acesso a esse saber. Agora, você irá ler o poema “Canto de floresta”, escrito pelo poeta indígena do povo sateré-mawé Tiago Hakiy (1979-), no qual o acesso ao conhecimento é percebido por outro ponto de vista.
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor
Canto
1 No silêncio da floresta
2 Lanço meu canto de pássaro
3 Meu canto de gavião
4 Árvores esverdeando a imensidão desse chão.
5 No silêncio da floresta
6 Construo canoas de tradição
7 O campo vasto de grafismo
8 Morando em meu coração.
9 No silêncio da floresta
10 Reparto meu canto para entoar a vida
11 O sorriso da cunhã amada.

1. b) Esse verso demonstra a construção estética da conexão do eu lírico com a floresta e enfatiza a importância dos elementos da natureza para a concepção do poema.
12
Navegando nas brisas do tempo
13 Preservo o legado do meu povo
14 Para merecer o amanhã que chegar
15 Para presentear o sol que há de brilhar.
16 Nas águas do meu rio
17 Me banho de lendas
18 Murmúrio que assusta o frio
19 Que nascer em minhas remadas.
20 No silêncio da floresta


21 Ergo meu urro de onça pintada
22 Minha festa da aldeia
23 Dança da tucandeira em noite de lua cheia.
24 No silêncio da noite
25 Chamo a cultura ao redor da fogueira
26 Para celebrar o sorriso das estrelas
27 O olhar do pajé que tudo incendeia.
28 Lanço meu canto de Amazônia
29 Minha flecha riscando as nuvens
30 Meu tacape defendendo meu chão
31 A verdade que nasce em meu coração.
32 Canto para preservar a vida
33 O piar da coruja, a força da correnteza
34 Canto para existir
35 Para resistir.
36 No silêncio da floresta
37 Ergo os braços em festa
38 Para repartir a minha tradição
39 Minha vida de água
40 De verde, meu coração.
1. c) O movimento refere-se ao resgate e à reconstrução da tradição cultural indígena. No decorrer do poema, ele é retratado de forma positiva por meio de ações que evidenciam a conexão com a natureza e a harmonia com o meio ambiente.
grafismo: arte de criar imagens ou padrões por meio de elementos gráficos. No caso do poema, pode fazer referência também à pintura corporal.
entoar: dar início ao cantar.
cunhã: “mulher” na língua tupi. legado: aquilo de valor material ou imaterial que se deixa para as outras pessoas.
murmúrio: ruído leve.
tucandeira: espécie de formiga utilizada em ritual do povo sateré-mawé.
tacape: arma construída com um pedaço de madeira; borduna.


Tiago Hakiy é poeta, biblioteconomista e contador de histórias. Nascido em Barreirinha, no Amazonas, e descendente do povo indígena sateré-mawé, o autor participa de diversos eventos cujo objetivo é propagar a literatura e a cultura indígena. Em 2012, venceu o Concurso Tamoios de Textos de Escritores Indígenas. Além disso, foi um dos fundadores do Clube Literário Amazonas. Em sua literatura, Hakiy busca imprimir as marcas da ancestralidade indígena e da vida na floresta.
■ Tiago Hakiy em Barreirinha (AM), 2024.
HAKIY, Tiago. Canto de floresta. In: POESIA Indígena Hoje, [s. l.], n. 1, p. 1-127, ago. 2020. p. 92-93. Disponível em: https://www.p-o-e-s-i-a.org/dossies/. Acesso em: 29 ago. 2024.
1. O poema “Canto de floresta” resgata os saberes tradicionais indígenas e valoriza a vida em harmonia com a natureza.
a) No decorrer do poema, há a repetição de um dos versos. Transcreva esse verso no caderno.
b) Qual é a função desse verso nas estrofes em que ele aparece?
“No silêncio da floresta”
c) A s ações realizadas pelo eu lírico, que são introduzidas pelo verso transcrito, evidenciam um movimento proposto pelo eu lírico no poema. Que movimento é esse? No decorrer do poema, ele é retratado de forma positiva ou negativa? Explique.
2. No poema “Canto de floresta”, o canto, a dança e as narrativas mitológicas assumem um papel importante. Qual é esse papel? Explique.
O canto, a dança e as narrativas mitológicas servem como meios de preservação e transmissão da cultura indígena do povo sateré-mawé. Eles reforçam a identidade cultural, a conexão com a natureza e a espiritualidade, além de promoverem a coesão comunitária e a continuidade das tradições desse povo.
4. Resposta pessoal. O objetivo da atividade é que o estudante reflita sobre o impacto da ocupação e da exploração ilegal de territórios ocupados pelos povos originários.
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor.
3. Em Os Lusíadas , o conhecimento se associa à descoberta da máquina do mundo que permite a Vasco da Gama enxergar o que somente os deuses enxergam. Em “Canto de floresta”, por sua vez, o conhecimento é apresentado de outra maneira. Leia os itens a seguir e copie, no caderno, as alternativas corretas em relação à forma como o conhecimento é apresentado nos poemas de Camões e Hakiy.
I. Em “Canto de floresta”, o conhecimento está associado à tradição e ao legado cultural das sociedades indígenas.
II. Em Os Lusíadas, o conhecimento é tido como motor para o progresso da civilização.
III. Em Os Lusíadas, o acesso ao conhecimento possibilita a exploração de novas terras.

IV. Em “Canto de floresta”, o conhecimento está ligado à harmonia com a natureza e à sabedoria transmitida por meio de rituais, cantos e danças.
V. Em Os Lusíadas, o conhecimento é associado exclusivamente à mitologia grega.
VI. Em “Canto de floresta”, o saber é compreendido como ferramenta para a conquista de territórios.
Estão corretas as respostas I, II e III.
4. Junte-se a dois colegas, realize a leitura do trecho a seguir e observe a imagem para responder ao que se pede.
[…] O desmatamento ocasiona impactos nas populações indígenas e comunidades tradicionais que dependem da floresta para sua subsistência. Além disso, muitos desses grupos enfrentam a perda de seus territórios tradicionais, bem como a contaminação de rios e recursos naturais devido à atividade industrial.

EQUIPE FAS. Como o desmatamento na Amazônia tem afetado a saúde pública? In: FAS. Blog da FAS. Manaus, c2024. Disponível em: https://fas-amazonia.org/blog-da-fas/2023/11/24/ como-o-desmatamento-na-amazonia-tem-afetado-a-saude-publica/. Acesso em: 29 ago. 2024.
No período do Renascimento, a ideia de progresso estava associada à descoberta de novos territórios. Elabore, no caderno, um parágrafo de reflexão sobre o modo como a ocupação ilegal e violenta de territórios pode promover o apagamento de culturas. Para a realização da atividade, considere o trecho do artigo sobre desmatamento que você leu e o que você aprendeu durante a leitura do poema “Canto de floresta”.
5. Releia o poema “Canto de floresta”, prestando atenção nas sílabas poéticas e na frequência das rimas para responder às questões a seguir.
a) Realize a contagem das sílabas poéticas da primeira estrofe do poema. Elas apresentam alguma regularidade?
Na primeira estrofe do poema “Canto de floresta”, as sílabas poéticas não apresentam regularidade.
b) Agora, observe o modo como as rimas se estruturam. Elas seguem uma estrutura fixa?
As rimas do poema não seguem uma estrutura fixa.
c) Compare o que foi observado por você nesses versos com a métrica e a rima do trecho do “Canto X” de Os Lusíadas estudado anteriormente. Quais são as diferenças estruturais entre os dois poemas?
A epopeia Os Lusíadas tem métrica e esquema de rimas regular; já o poema “Canto de floresta” não apresenta métrica nem um esquema de rimas regulares.
6. a) A obra Os Lusíadas apresenta uma narrativa que exalta as ações dos portugueses durante as navegações. A obra narra a jornada de Vasco da Gama e conta com a presença de elementos históricos e de aspectos associados à mitologia grega.
Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, e “Canto de floresta”, de Tiago Hakiy, são exemplos representativos de dois períodos literários distintos: a poesia clássica do Renascimento e a poesia contemporânea, respectivamente. A obra Os Lusíadas é uma epopeia que segue as convenções rígidas da poesia clássica, com métrica e ritmos regulares ao longo do poema como um todo. Em contraste, o poema “Canto de floresta” exemplifica a flexibilidade e a liberdade estrutural da poesia contemporânea, caracterizada pela ausência de rimas fixas, pelo esquema métrico variável e pela variação no comprimento dos versos.
O verso livre, aquele que não segue um padrão métrico regular, é uma estrutura de versificação associada à poesia moderna, pós-moderna e contemporânea, pois confere maior liberdade formal à construção poética, rompendo os padrões clássicos e ampliando as possibilidades de construção de sentidos.

6. As diferenças estruturais entre Os Lusíadas e “Canto de floresta” refletem não apenas as mudanças de estilo ao longo dos séculos, mas também as diferentes abordagens culturais de seus respectivos contextos históricos. Tendo isso em vista, responda às questões a seguir.
a) De que modo se configura a estrutura narrativa de Os Lusíadas? Em sua resposta, considere o que você aprendeu sobre a epopeia.
b) De que forma o enredo de “Canto de floresta” é construído? Explique.
c) Compare as características do enredo de Os Lusíadas às do enredo de “Canto de floresta”, considerando o período histórico de cada um dos poemas e estabelecendo diferenças temáticas entre eles. Em sua comparação, considere seus conhecimentos sobre o Classicismo e o que você já estudou sobre literatura indígena.
6. b) No poema “Canto de floresta”, as imagens e os sentimentos expressam a busca por uma conexão do eu lírico com a natureza e a importância de preservar e valorizar a cultura indígena do povo ao qual pertence, mensagem central do poema.
7. Releia este trecho de Os Lusíadas e copie, no caderno, as afirmações corretas sobre ele.
1 Depois que a corporal necessidade
2 Se satisfez do mantimento nobre,
3 E na harmonia e doce suavidade
4 Viram os altos feitos que descobre,
5 Tétis, de graça ornada e gravidade,
6 Para que com mais alta glória dobre
7 As festas deste alegre e claro dia,
8 Para o felice Gama assim dizia:
6. c) Resposta pessoal. O objetivo da atividade é que os estudantes identifiquem as diferenças entre o modo como cada um dos poemas constrói seu enredo. Enquanto Os Lusíadas preserva características da epopeia e celebra e incentiva a conquista de novas terras, o poema “Canto de floresta” celebra a harmonia e a conexão com a natureza e ressalta a importância da preservação do meio ambiente e a valorização das culturas ancestrais.
I. A expressão doce suavidade (verso 3) não é apresentada em seu sentido literal, mas no sentido figurado em relação à satisfação proporcionada pelo momento vivido.
II. A expressão claro dia (verso 7) é apresentada figurativamente para representar a metáfora de um dia bonito.
III. Para compreender a expressão doce suavidade (verso 3) em seu contexto, é preciso que o leitor acione sensações percebidas por vários órgãos dos sentidos – nesse caso, o paladar e o tato.
IV. A expressão alta glória (verso 6) é usada em seu sentido literal, para expressar um feito glorioso em terras de grande altitude como é o caso de Portugal, retratado nos poemas de Camões.
Estão corretas as afirmações I e III.
Em II, claro dia está no sentido literal, para indicar um dia com bastante claridade. Em IV, alta glória está no sentido figurado, para representar um grande feito, e nada tem a ver com a geografia de Portugal.

Sentido denotativo e conotativo
Palavras e expressões podem ser utilizadas no sentido denotativo ou conotativo. O sentido denotativo se refere aos significados do dicionário, básicos e objetivos, correspondentes ao contexto literal em que são apresentados. O sentido conotativo é o figurado, em que se estabelecem relações com outros significados, de outras palavras, objetos, seres, contextos e situações, por associação, comparação, correspondência, entre outros processos cognitivos (do processamento da linguagem).
8. Releia a estrofe a seguir para responder ao que se pede.
Navegando nas brisas do tempo
Preservo o legado do meu povo
8. a) No contexto do poema, o termo navegando assume o sentido de “mover-se através do tempo” e revela a importância da preservação das tradições culturais no decorrer das gerações.
Para merecer o amanhã que chegar
Para presentear o sol que há de brilhar.
8. b) O eu lírico possivelmente se refere às tradições culturais, aos conhecimentos, às histórias e aos rituais dos povos indígenas.
a) No contexto do poema de Tiago Hakiy, a forma verbal navegando assume sentido conotativo. Qual é o significado assumido por esse termo na primeira estrofe do trecho transcrito? Explique.
b) A que legado o eu lírico possivelmente se refere?
c) No trecho, há uma relação entre o conhecimento do passado, a atitude do presente e a perspectiva de futuro. Qual é essa relação? Explique com base em sua interpretação do poema.
Leia o trecho a seguir, no qual o professor e teórico francês de literatura Antoine Compagnon (1950-) busca fazer uma reflexão crítica com base em ideias postuladas pelo senso comum sobre o que é o cânone literário.
[O] cânone é composto de um conjunto de obras valorizadas ao mesmo tempo em razão da unicidade da sua forma e da universalidade (pelo menos em escala nacional) do seu conteúdo; a grande obra é reputada simultaneamente única e universal.
COMPAGNON, Antoine. A literatura. In: COMPAGNON, Antoine. O demônio da teoria: literatura e senso comum. Tradução: Cleonice Paes Barreto Mourão, Consuelo Fortes Santiago. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2012. p. 33.
Considerando esse trecho, reflita e responda oralmente às questões a seguir.
• A obra Os Lusíadas é parte do cânone das literaturas em língua portuguesa. Por que você acredita que isso ocorre? Quais são os critérios que determinam que uma obra seja classificada como tal?
• Em seu ponto de vista e com base nas considerações apresentadas como resposta na questão anterior, o poema “Canto de floresta” também pode ser considerado uma obra do cânone?
Respostas pessoais. O objetivo da questão é levar os estudantes a refletir sobre o porquê da obra Os Lusíadas ser compreendida como um cânone literário. Resposta pessoal. O objetivo da questão é incitar a discussão sobre o conceito de cânone e de universalidade na literatura.
• Em sua opinião, a lista dos cânones literários nacionais deveria ser construída com base em quais critérios? Explique.
Respostas pessoais. O objetivo da questão é levar os estudantes a desenvolver um pensamento crítico acerca da noção de cânone e a descobrir quais são os critérios utilizados para definir as obras que farão parte dele ou não.
8. c) O objetivo da questão é que os estudantes reflitam e analisem a relação temporal na estrofe, a qual sugere que o conhecimento do passado (tradições e legados) deve ser preservado no presente por meio das ações do eu lírico, com o objetivo de garantir um futuro em que essas tradições continuem a existir e a ser valorizadas.
Neste capítulo, você estudou algumas características do gênero poema. Entre elas, está o conceito de métrica. Nesta seção, você vai reler os trechos dos poemas trabalhados e retomar os conceitos estudados para elaborar um poema que obedeça a uma métrica regular. Seu texto deverá apresentar como temática a relação entre as diferentes formas de conhecimento presentes no mundo contemporâneo.

1. A motivação para iniciar a produção do texto envolve a reflexão e a observação acerca das diferentes formas através das quais a métrica regular pode se estabelecer em um poema. Para isso, releia o “Canto X” de Os Lusíadas e refaça a contagem das sílabas poéticas do trecho lido a fim de identificar a sua regularidade métrica. Em seguida, reflita sobre o modo como você abordará a temática das diferentes formas de conhecimento em seu poema.
• Em seu poema, você pretende utilizar versos mais longos, ou seja, com maior número de sílabas poéticas, ou mais curtos?
• Quais estratégias de composição você poderá utilizar para manter a métrica regular?
1. Para dar início ao planejamento do texto, procure elaborar a estrutura do poema seguindo os passos listados.
• Defina a métrica com base na qual o seu poema será estruturado.
• Planeje o modo como a temática escolhida será abordada no poema.
• Selecione quais estratégias formais poderão ser utilizadas para garantir a regularidade métrica.
• Faça a contagem de sílabas poéticas.
2. Para realizar a escrita do poema, formule versos que atendam tanto à temática quanto à métrica estabelecida. Para isso, pesquise sinônimos em dicionários, caso seja necessário substituir alguma palavra por outra para adequar a quantidade de sílabas poéticas.
3. Observe se a relação entre forma e conteúdo estabelecida por você é coerente.
1. Utilize as questões a seguir como roteiro para avaliação e revisão do poema.
• A temática do poema pode ser identificada com facilidade?
• A regularidade métrica foi mantida sem prejuízo para o conteúdo?
• A relação entre forma e conteúdo do poema é mantida de modo coerente?
O poema produzido pode ser divulgado no blogue da turma, se houver, ou ser entregue ao professor para que, em data previamente definida, seja apresentado aos colegas. As impressões sobre a atividade e os textos podem ser compartilhadas em uma roda de conversa. Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor

Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor.
Resposta pessoal. Espera-se que, com base nessa questão, os estudantes comecem a pensar sobre o diálogo entre as linguagens verbal e não verbal. Enquanto refletem sobre a atividade, procure apresentar exemplos conhecidos por eles nos quais essa comunhão de linguagens ocorre – por exemplo, na leitura de textos literários nos livros didáticos, que normalmente são acompanhados por ilustrações que ajudam a complementar os sentidos.
Na seção Estudo Literário, você analisou o poema “Canto de floresta”, de Tiago Hakiy, no qual a preservação do legado e da tradição do povo indígena é engrandecida. Nesta seção, você vai ler um infográfico apresentado pelo portal de jornalismo Nexo. Entre outras informações, ele apresenta o legado do povo indígena sateré-mawé, conhecido como “filhos do guaraná”, que utilizaram os próprios saberes tradicionais para domesticar uma planta que, nos dias atuais, está presente em muitos lares brasileiros.
Respostas pessoais. Espera-se que os estudantes comentem que alguns dos objetivos da leitura de infográficos são: conhecer mais sobre um assunto, descobrir novas informações, aprender sobre um tema, entre outros.
Antes de iniciar a primeira leitura do texto, discuta com a turma as questões a seguir.
• Você costuma ler infográficos? Se sim, sobre quais temáticas e com que objetivos?
• Em sua opinião, de que maneira imagens podem ser utilizadas para auxiliar na compreensão de textos verbais?
Gabriel Zanlorenssi, Giovanna Hemerly e Mariana Froner 21 de maio de 2023 (atualizado 28/12/2023 às 22h04)
Semente da Amazônia é rica em estimulantes e serve de base a xaropes, refrigerantes e cosméticos. Brasil é, na prática, o único produtor de guaraná no mundo

Guaranazeiro
Paullinia cupana

Cipó originário da Amazônia. Faz parte da família das sapindáceas, que inclui também a lichia
O guaraná foi domesticado pelos Sateré-Mawé , que habitam o Amazonas e o Pará. O cultivo e o comércio do guaraná é um elemento central na história desse povo, que fala uma língua Tupi. Eles são conhecidos como os filhos do guaraná, segundo seu próprio mito fundador.

Semente do guaraná
Guaraná (fruto)
Possui casca avermelhada e a polpa branca. Quando maduro, o fruto se abre e expõe sua semente, assumindo um formato semelhante a um olho
Rica em estimulantes, como guaranina (também chamada de cafeína) e teobromina


As sementes são limpas e separadas, antes de serem torradas. Depois, são moídas até virar uma pasta ou pó, usados como estimulantes, similar ao café.
O pó também serve de base para refrigerantes, xaropes e cosméticos, além de dar sabor a outras preparações, como o açaí e a catuaba industrializados.




Os refrigerantes contêm o extrato de guaraná, além de açúcares ou adoçantes, corantes e os outros produtos químicos. Tornam-se um símbolo cultural do Brasil e são para muitos brasileiros a única forma que consomem o guaraná.

Não há estimativas regulares da produção de guaraná por país, por conta de o Brasil produzir quase 100% do fruto no mundo. Outros países da Amazônia têm apenas pequenas áreas plantadas.


Historicamente, Maués (AM) é um dos principais polos de produção de guaraná no Brasil. Com o tempo, o centro-sul da Bahia se tornou o local com maior produção de guaraná do país. Essa região baiana tem temperatura e precipitação similares a Amazônia.






1. A finalidade é apresentar informações sobre a semente de guaraná, por exemplo: características, origem e produção no Brasil.
3. Os produtos de guaraná são produzidos com a semente da planta. Essa informação aparece pela primeira vez na linha fina ou subtítulo.
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor.
Fonte: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
Fonte: ZANLORENSSI, Gabriel; HEMERLY, Giovanna; FRONER, Mariana. De onde vem o guaraná. E onde ele é produzido. Nexo, [s l.], 28 dez. 2023. Disponível em: www.nexojornal.com. br/grafico/2023/05/21/de-onde-vemo-guarana-e-onde-ele-e-produzido. Acesso em: 30 ago. 2024.
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor
1. Qual é a finalidade do infográfico que você acabou de ler?
2. Qual é o nome científico da planta guaraná e de onde ela é originária?
5. Esse povo pertence à terra indígena de Andirá-Marau, localizada na fronteira entre o Amazonas e o Pará. No infográfico, essa informação é indicada em um mapa verde. O território aparece destacado com a cor vermelha.
3. Qual parte da planta é utilizada como matéria-prima para fabricar os produtos de guaraná? Em que parte do texto essa informação aparece pela primeira vez?
4. Qual povo foi responsável por domesticar o guaraná? Como ele é conhecido?
Paullinia cupana. É originária da Amazônia. O povo sateré-mawé, conhecido como filhos do guaraná.
5. A qual terra indígena esse povo pertence? No infográfico, que recurso não verbal é utilizado para destacar essa informação ao leitor?
6. No infográfico, há uma informação que coloca o Brasil em posição de destaque em relação ao plantio do guaraná.
a) Que informação é essa e como ela pode interessar o leitor do portal Nexo?
b) De acordo com o infográfico, há outros países que têm pequenas áreas de plantio de guaraná na Amazônia, sem possibilidade de estimativa regular. O que esses países têm em comum com o Brasil?
7. Entre os produtos que utilizam o guaraná em sua produção, é possível listar os apresentados a seguir.



a) Você e seus familiares consomem guaraná? De que maneira?
6. a) A informação de que o Brasil é, na prática, o único produtor de guaraná no mundo. A informação provavelmente chama a atenção do leitor do portal pelo destaque dado ao fato de o Brasil produzir quase 100% do fruto no mundo.
6. b) A Floresta Amazônica está presente nesses outros países, também conhecidos como países amazônicos. A Amazônia se estende por oito países: Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Venezuela e Suriname.
7. a) Respostas pessoais. Os estudantes podem citar principalmente o refrigerante, mas há outras formas de consumo, como o pó de guaraná, xaropes e até mesmo cosméticos produzidos com a semente.
b) D e acordo com o infográfico, um desses produtos é a única forma pela qual o brasileiro consome guaraná. Qual é ela e como é produzida? É o refrigerante; produzido com o extrato de guaraná, além de açúcares ou adoçantes, corantes e outros produtos químicos adicionados.
8. b) Sugestão de resposta: A domesticação de uma planta ocorre quando uma espécie é cultivada em ambiente controlado pelos humanos, tendo suas características modificadas com o objetivo de aumentar a produção de sementes, raízes e frutos, assim como de melhorar a qualidade deles.
8. Leia, a seguir, o trecho de outro infográfico publicado pelo portal Nexo, que faz parte da série “A história ilustrada de um Saber”.


A domesticação de plantas é o processo pelo qual vegetais passam a ser cultivados em ambientes controlados por humanos. Elas têm suas características modificadas por seleção de indivíduos melhores para aumentar a produção de sementes, raízes ou frutos.

O surgimento da agricultura acontece quando os humanos selecionam os primeiros vegetais mais interessantes para o seu consumo. Com o tempo, eles se tornam a base da alimentação humana.
Fonte: GOMES, Lucas; MAIA, Gabriel. Domesticação das plantas. Nexo, [s l.], 30 dez. 2020. Disponível em: www.nexojornal.com.br/ grafico/2020/12/30/a-historia-ilustrada-de-um-saber-domesticacao-das-plantas. Acesso em: 30 ago. 2024.
a) De acordo com o infográfico, que prática surgiu a partir do momento em que a humanidade passou a cultivar e selecionar vegetais?
A prática que surge a partir desse processo é a agricultura.
b) Esse infográfico traça uma relação com o infográfico “De onde vem o guaraná. E onde ele é produzido” ao explicar como se dá a domesticação de plantas, processo que também ocorreu no cultivo do guaraná. Com suas palavras, explique como ocorre a domesticação de uma planta.
9. Observe os dois tomates ilustrados no infográfico da questão 8 e responda às questões.
a) De acordo com o texto que os acompanha, qual é a diferença entre esses dois tomates?
Um é selvagem e o outro, cultivado, ou seja, domesticado.
b) De que maneira a ilustração comparativa dos dois frutos induz a uma leitura positiva do processo de domesticação de plantas?
O tomate cultivado é ilustrado em tamanho maior que o selvagem, o que sugere um ganho no processo de domesticação. Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
Linguagens verbal e não verbal
Por meio do diálogo entre as linguagens verbal e não verbal , o gênero textual infográfico organiza informações geralmente complexas de maneira didática, tornando mais acessível ao leitor a explicação de dados científicos ou até mesmo de resultados de pesquisas.
O sincretismo estabelecido entre essas duas linguagens é promovido para que a atividade leitora seja facilitada. No entanto, para que isso seja possível, é importante que o leitor esteja preparado para esse novo modo de transmitir conhecimento.
10. O infográfico sobre a semente do guaraná que você leu é dividido em dois grandes temas.
a) Quais são eles?
A primeira parte apresenta as características e a origem do guaraná, e a segunda traz os dados sobre a produção de semente de guaraná.
b) Qual elemento verbal é utilizado para introduzir cada um deles?
O subtítulo.
11. a) O recurso é utilizado para apresentar a evolução da produção do refrigerante feito de guaraná ao longo do tempo.
11. A linha do tempo é um recurso gráfico que organiza eventos ou fatos históricos junto às datas em que aconteceram, distribuindo-os no tempo de maneira concisa e visual.
a) No infográfico sobre a semente do guaraná, o recurso da linha do tempo é utilizado. Que conteúdo ele apresenta ao leitor?
b) Que recorte temporal a linha do tempo apresenta?
O período de 16 anos, de 1905 a 1921.
c) Quais recursos gráficos são utilizados para organizar esse conteúdo na linha do tempo?
Barras horizontais de diferentes cores.
12. Observe, a seguir, os quatro gráficos que compõem o infográfico lido no início desta seção.
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor





a) Os gráficos são utilizados para explicar uma realidade que pode ser mensurada de maneira visual. No infográfico lido, qual é a realidade que eles pretendem explicar? Copie a opção correta no caderno.
I. Como a produção de guaraná é dividida no território brasileiro.
II. Como a produção de guaraná é dividida no estado de Mato Grosso.
III. Como a produção de guaraná é dividida entre os países amazônicos.
Resposta: I.
12.
e) Da leitura do gráfico depreende-se o volume de produção por estado. Em 2021, a Bahia apresentou uma produção três vezes maior que a do Amazonas. O texto, no entanto, inicia-se com a afirmação de que “Historicamente, Maués (AM) é um dos principais polos de produção de guaraná no Brasil”, informação que pode causar estranhamento ao leitor logo após a leitura do gráfico, já que o dado depreendido dele não é esse. O advérbio historicamente, no texto, tem o sentido de marcar que a produção ao longo dos anos foi maior no Amazonas, mas nos últimos tempos tem sido maior no estado da Bahia. Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor

b) A seguir, estão listados os principais tipos de gráficos. Com base em seu conhecimento, classifique os gráficos apresentados anteriormente. Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor Gráfico de colunas: I e II. Gráfico de áreas: III. Gráfico de barras: IV.
Gráfico de colunas
Gráfico de barras
Gráfico de linhas
Gráfico de setores ou circular
Gráfico de áreas
c) De acordo com esses gráficos, qual é o estado e a cidade responsáveis pela maior produção de guaraná?
O estado da Bahia e o município de Ituberá (BA).
d) Os gráficos II e III apresentam a produção de guaraná por estado. Compare-os para identificar as semelhanças e as diferenças na forma de apresentação do conteúdo.
e) No gráfico III, apresenta-se a produção de guaraná por estado. Releia o trecho a seguir, posicionado logo abaixo desse gráfico.
Historicamente, Maués (AM) é um dos principais polos de produção de guaraná no Brasil. Com o tempo, o centro-sul da Bahia se tornou o local com maior produção de guaraná do país.
• As informações do gráfico em comparação às informações do texto podem gerar dúvidas de interpretação. Explique a relação entre essas informações, interpretando-a de acordo com o sentido apresentado no texto.
f) Em sua opinião, algum dos gráficos não apresenta os dados de forma clara? Justifique sua resposta.
13. O infográfico costuma transitar entre dois campos de atuação: o jornalístico-midiático e o das práticas de estudo e pesquisa. No campo jornalístico-midiático, muitas vezes, o infográfico é utilizado para apresentar, de maneira didática e mais organizada, informações de diferentes áreas.
a) Copie o quadro a seguir no caderno ou em uma folha avulsa e explique de que maneira cada área de conhecimento é contemplada no infográfico lido.
Os conteúdos são apresentados de forma acessível e didática.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Além de ser importante citar a fonte de pesquisa, dando crédito ao Instituto, apresentar a referência
credibilidade ao conteúdo desenvolvido.
Matemática e suas Tecnologias
Ciências da Natureza e suas Tecnologias
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
Apresentação dos dados numéricos a respeito da produção de guaraná no país por meio de gráficos.

Apresentação de mapas e gráficos.
Informações sobre as características da planta guaraná e a produção do refrigerante.
b) Que benefícios tem o leitor com a apresentação de conteúdos em forma de infográfico?
c) Que instituto de pesquisa foi utilizado como fonte para criar o infográfico? Qual é a importância de indicar a fonte de pesquisa?
12. d) Semelhanças: cores utilizadas e unidade de medida (tonelada).
Diferenças: o gráfico II apresenta a porcentagem de produção ao longo dos anos (1981-2021); o gráfico III, a quantidade em toneladas apenas no ano de 2021.
14. Linguagem verbal: texto verbal explicativo, título e subtítulo.
Linguagem não verbal: ilustração, gráfico, mapa, destaques (negrito, itálico etc.), diferentes tipos de letras e cores.
14. O gênero textual infográfico apresenta um diálogo entre duas linguagens: a verbal e a não verbal. Copie o quadro a seguir no caderno, distribuindo os elementos apresentados nas colunas corretas.
Ilustração gráfico texto verbal explicativo título cores subtítulo mapa destaques (negrito, itálico etc.) diferentes tipos de letra
12. f) Respostas pessoais. Incentive os estudantes a fundamentar suas respostas por meio da leitura dos elementos verbais e não verbais dos gráficos. Para tanto, ajude-os a interpretar cada um dos gráficos de acordo com seus formatos e dados. A seção Conexões deste capítulo abordará de forma mais aprofundada a leitura de gráficos, com base na interdisciplinaridade com a área de Matemática e suas Tecnologias.


15. Em um infográfico, todos os elementos gráficos devem ser pensados como geradores de informação, e a escolha de cores não foge a essa regra.
a) No infográfico lido, há três cores predominantes. Quais são elas?
Vermelho, verde e preto.
b) De que maneira a escolha de cores está relacionada ao conteúdo transmitido pelo infográfico?
São as cores características da planta guaraná.

Linguagens no infográfico
Em um infográfico, os recursos da linguagem não verbal utilizados – como grafismos, quadros, cores, ilustrações, mapas e gráficos – servem de guias para a leitura, indicando o fluxo e a hierarquia das informações apresentadas. O fluxo da leitura também pode ser indicado pela linguagem verbal , de acordo com a apresentação de blocos de texto, título e subtítulos.
16. Agora observe novamente um dos mapas apresentados no infográfico.

a) Que recurso gráfico é utilizado para destacar os estados produtores de guaraná?
A cor vermelha.
b) O quadro apresentado ao lado do mapa traz a informação verbal de que o litoral centro-sul da Bahia é o local onde mais se produz guaraná. Qual recurso gráfico é utilizado para apresentar essa informação no mapa?
A concentração de círculos vermelho-escuros, indicadores de toneladas do guaraná.
17. Na leitura de um infográfico, é importante notar como se dá a articulação entre as linguagens verbal e não verbal. Os elementos não verbais normalmente podem:
• complementar o texto verbal;
17. a) As ilustrações reiteram o conteúdo do texto verbal, porque reforçam a informação apresentada no texto.
• reiterar o texto verbal, ou seja, repetir ou reforçar uma informação;
• se opor ao texto verbal, denunciando uma articulação que não foi bem pensada.
a) As ilustrações do infográfico lido fazem que tipo de articulação com o texto verbal? Por quê?
b) Os mapas do infográfico lido fazem que tipo de articulação com o texto verbal? Por quê?
c) Os gráficos do infográfico lido fazem que tipo de articulação com o texto verbal? Por quê?
17. b) Os mapas complementam as informações do texto, porque apresentam novas informações, como a localização precisa dos produtores de guaraná.
17. c) Os gráficos complementam o texto verbal, pois trazem novas informações especialmente relacionadas à quantidade de guaraná produzido e à sua distribuição pelo país.

O infográfico é um gênero textual conhecido pela concisão com que apresenta informações. Infográficos veiculados na internet, no entanto, podem contar com um recurso importante para o aprofundamento do conteúdo: o hipertexto. No infográfico que você leu, esse recurso está presente por meio de hiperlinks, ligações que vinculam um conteúdo a outro por meio de um link clicável. Leia, a seguir, um trecho do texto para o qual o hiperlink presente no infográfico “De onde vem o guaraná. E onde ele é produzido” direciona.
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor.
A autoimagem dos Sateré-Mawé como filhos do guaraná está traçada no plano ideológico no mito da origem. Inventores da cultura do guaraná, os Sateré-Mawé transformaram a Paullinia Cupana , trepadeira silvestre da família das Sapindáceas, em arbusto cultivado, introduzindo seu plantio e beneficiamento. O guaraná é uma planta nativa da região das terras altas da bacia hidrográfica do rio Maués-Açu, que coincide precisamente com o território tradicional Sateré-Mawé.

O waranã é o produto por excelência da economia sateré-mawé, e dos seus produtos comercializáveis é o que obtém melhor preço no mercado. É possível ainda pensar que a vocação para o comércio demonstrada pelos Sateré-Mawé se explique pela importância do guaraná na sua organização socioeconômica.
A primeira descrição do guaraná e de sua importância para os Sateré-Mawé é de 1669, ano que coincide com o primeiro contato do grupo com os brancos. Segundo o padre João Felipe Betendorf ‘tem os Andirazes em seus matos uma frutinha que chamam guaraná, a qual secam e depois pisam, fazendo dela umas bolas, que estimam como os brancos o seu ouro, e desfeitas com uma pedrinha, com que as vão roçando, e em uma cuia de água bebida, dá tão grandes forças, que indo os índios à caça, um dia até o outro não têm fome, além do que faz urinar, tira febres e dores de cabeça e cãibras’.
Em 1819, o naturalista Carl von Martius recolheu na região de Maués uma amostra de guaraná, denominando-a Paullinia Sorbilis. Martius observou que na época já existia intenso comércio de guaraná, enviado a locais distantes como o Mato Grosso e a Bolívia. Assim, em 1868, Ferreira Pena escreve:
1. Na palavra que nomeia o povo, Sateré-Mawé, após o subtítulo “Características e origem do guaraná”. Além de o hiperlink ser identificável pela palavra-chave, Sateré-Mawé, a expressão aparece no infográfico sublinhada na cor verde.
‘Cada ano descem pelo Madeira mercadores da Bolívia e Mato Grosso dirigindo-se à Serpa e Vila Bela Imperatriz, para onde trazem seus gêneros de exportação e donde recebem os de importação. Daí, antes de regressar vão a Maués, donde levam mil arrobas de guaraná, regressando então em ubás, carregadas daqueles e deste último gênero, que eles vão vender nos departamentos de Beni, Santa Cruz de La Sierra e Cochabamba na Bolívia e nas povoações do Guaporé e seus afluentes.’
O comércio do guaraná sempre foi intenso na região de Maués, não só o realizado pelos Sateré-Mawé, mas também pelos comerciantes locais. A procura deste produto deve-se às propriedades de estimulante, regulador intestinal, antiblenorrágico, tônico cardiovascular e afrodisíaco. No entanto, é como estimulante que o guaraná, depois de beneficiado, é mais procurado, pois contém alto teor de cafeína (de 4 a 5%), superior ao chá (2%) e ao café (1%).

Existe uma distinção entre o guaraná de excelência beneficiado pelos Sateré-Mawé, denominado regionalmente ‘guaraná das terras, guaraná das terras altas e guaraná do Marau’, do guaraná beneficiado pelos agricultores na região de Maués, chamado ‘guaraná de Luzeia’, antigo nome da cidade de Maués, de qualidade inferior porque não é produzido com o apuro das práticas tradicionais ministradas pelos Sateré-Mawé.
"Este conteúdo é resultado do trabalho do Instituto Socioambiental na defesa da diversidade socioambiental brasileira, seja nos corredores de Brasília ou no chão da floresta. Conheça nossas plataformas: Povos Indígenas no Brasil, Terras Indígenas no Brasil, Unidades de Conservação no site www.socioambiental.org" LORENZ, Sônia da Silva. Sateré-mawé. [S l.] In: INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, Povos Indígenas do Brasil, 20 jan. 2021. Disponível em: https://pib. socioambiental.org/pt/Povo:Sateré_Mawé. Acesso em: 30 ago. 2024.
1. No ambiente on-line, um hiperlink clicável pode encaminhar o leitor para outra página, fazendo com que a leitura contemple diversos textos. Em que parte do infográfico “De onde vem o guaraná. E onde ele é produzido” está localizado o hiperlink que encaminhou a leitura para o texto “Os filhos do guaraná”? Quais características gráficas possibilitam sua identificação?
2. O hiperlink presente no infográfico encaminha o leitor para a página Povos Indígenas no Brasil. Além do texto “Os filhos do guaraná”, ela contém outros conteúdos. Ao lado direito, observe como essa lista de conteúdos foi apresentada no sumário clicável do portal.
a) O sumário clicável é apresentado ao lado direito da página. Que facilidade esse recurso apresenta para a leitura?
2. b) Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor.
b) Quais informações o infográfico apresenta sobre o povo sateré-mawé? Faça uma lista com cinco informações.
c) Com a lista elaborada para a alternativa anterior em mente e a leitura do sumário, responda: de que maneira a leitura do hipertexto indicado no infográfico amplia o conteúdo presente nele?
2. c) Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor.

Fonte: LORENZ, Sônia da Silva. Sateré mawé [S l.]: Intituto Socioambiental: Povos indígenas do Brasil, 20 jan. 2021. Disponível em: https://pib. socioambiental.org/pt/Povo:Sateré_Mawé. Acesso em: 30 ago. 2024. 2. a) O sumário clicável permite que o leitor escolha os conteúdos que deseja ler. Por ser clicável, o leitor é rapidamente direcionado ao conteúdo de seu interesse.
4. b) São eles: o guaraná cultivado pelos sateré-mawé, conhecido como “guaraná das terras”, “guaraná das terras altas” e “guaraná do Marau”; e o guaraná cultivado pelos agricultores na região, conhecido como “guaraná de Luzeia”. O que os diferencia é quem os cultiva e a qualidade, que é maior no guaraná cultivado pelos sateré-mawé.
Infográfico

Como articula diferentes linguagens, o infográfico pode ser considerado um gênero multimodal e exige um leitor capaz de fazer a relação entre seus diversos elementos. No ambiente on-line , os infográficos não precisam ser estáticos, podendo apresentar vídeos, gifs , sons, hipertexto e outras ferramentas interativas.
3. O uso do hipertexto cria uma rede de informações interativa e oferece uma experiência de leitura diferente da tradicional.
a) Observe as duas ilustrações a seguir e responda: qual delas representa a leitura que é feita em jornais e revistas impressos? Qual representa a leitura promovida por um texto que faz uso de hipertexto?
3. a) I: leitura de documentos impressos; II: leitura promovida pelo uso de hipertexto. Espera-se que os estudantes percebam como a leitura de um texto que faz uso de hipertexto não é linear e, dessa maneira, permite uma maior liberdade de escolha do leitor.
Respostas pessoais. Caso sinta a necessidade, pergunte aos estudantes se eles ficaram curiosos para conhecer o mito dos filhos do guaraná, indagação que pode ajudá-los a analisar a necessidade dessa informação no verbete. É importante incentivar a criticidade dos estudantes em relação aos textos que leem, em especial aos de divulgação científica.
b) Compartilhe com os colegas a sua opinião sobre a seguinte questão: de que maneira a leitura hipertextual pode auxiliar a prática de estudos?
3. b) Resposta pessoal. Espera-se que, ao longo da discussão sobre o assunto, os estudantes percebam que a leitura hipertextual permite especialmente a maior autonomia do leitor em seu processo de leitura e pesquisa, fazendo-o ocupar uma posição mais ativa na busca do conhecimento e escolher inclusive as informações que deseja acessar.
“Os filhos do guaraná” é o subtítulo de um verbete de enciclopédia do site Povos Indígenas do Brasil, cuja entrada principal é Sateré Mawé . Esse gênero textual faz parte do campo de atuação das práticas de estudo e pesquisa e apresenta um texto informativo com a função de explicar determinado conceito ou assunto. Os verbetes geralmente são encontrados em enciclopédias impressas ou digitais, como é o caso do site Povos Indígenas no Brasil, criado em 1997 com o objetivo de reunir verbetes com informações sobre povos indígenas que habitam o Brasil. Assim como o podcast e o infográfico, os verbetes podem ser utilizados para tornar mais acessíveis conteúdos de pesquisas científicas, muitas vezes elucidando descobertas e apresentando estudos em uma linguagem acessível ao público geral.
4. a) A citação é de Ferreira Pena e data de 1868. O guaraná era comercializado para Beni, Santa Cruz de La Sierra e Cochabamba, na Bolívia, além das povoações do Guaporé e seus afluentes.
4. Em relação à leitura do verbete, responda às questões a seguir.
a) O texto apresenta uma citação histórica a qual demonstra que o comércio do guaraná no município de Maués (AM) é uma prática econômica antiga. De quem é a citação e qual é a data dela? De acordo com ela, para quais locais o guaraná da região era comercializado?
b) Na região do município de Maués, existem dois tipos de guaraná comercializados. Quais são eles e o que os diferencia?
5. Embora o texto seja intitulado “Os filhos do guaraná”, ele não apresenta informações sobre o mito responsável por essa nomeação do povo sateré-mawé.
a) Em sua opinião, essa é uma informação que faz falta no verbete? Por quê?
b) Utilizando fontes confiáveis, faça uma pesquisa, na internet, sobre o mito dos filhos do guaraná e explique-o brevemente em um parágrafo no caderno. Ao final da explicação, indique a fonte consultada.
Resposta pessoal. Por se tratar de um mito, a narrativa dos filhos do guaraná apresenta variações. No entanto, a maioria delas diz que a muda do fruto guaraná se origina do olho do filho morto de Onhiámuáçabê, dona do local conhecido como Nusoken, o paraíso para os sateré-mawé (disponível em: https://atelieamazonico.weebly.com/haacute-quem-diga/a-lenda-do-guarana-a-fruta-e-satere-mawe; acesso em: 4 set. 2024). Conhecedora das plantas e de seus usos medicinais, ela mesma planta o olho do filho morto. Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
As agroflorestas aliam a produção de alimentos, que é necessária em um mundo de população crescente, e a preservação de áreas florestais, muito importante para reduzir a concentração de dióxido de carbono na atmosfera, ajudando a mitigar o aquecimento global e consequentemente as mudanças climáticas.
A cidade de Maués (AM) é conhecida como “terra do guaraná”. O guaraná produzido nessa cidade tem uma conexão cultural com a região amazônica e é considerado um importante exemplo de cultivo sustentável, com o uso de práticas agrícolas que respeitam o meio ambiente. Uma dessas práticas é conhecida como agroflorestas ou sistema agroflorestal (SAF). A seguir, leia um texto do instituto de pesquisa WRI Brasil sobre esse tipo de cultivo e faça o que se pede.

Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes reconheçam que a valorização da terra pelos indígenas pode ser bastante importante em uma prática que procura preservar áreas florestais e recuperar áreas degradadas. Além disso, os saberes tradicionais de indígenas de diversos povos relacionados ao manejo da terra têm sido aproveitados por agricultores que procuram uni-los aos conhecimentos científicos existentes sobre o tema. MEIO
Um sistema agroflorestal é uma forma de uso e ocupação do solo em que árvores são plantadas ou manejadas em associação com culturas agrícolas ou forrageiras. Em outras palavras, é um sistema em que o produtor planta e cultiva árvores e produtos agrícolas em uma mesma área, garantindo a melhora de aspectos ambientais e a produção de alimentos e madeira.
Os benefícios econômicos para os produtores são múltiplos. Primeiro, eles garantem renda ao longo do tempo, porque podem comercializar primeiro as espécies agrícolas de crescimento rápido, depois espécies de médio prazo, como as frutíferas e, no longo prazo, as espécies madeireiras de alto valor agregado. As árvores plantadas no sistema também podem funcionar como uma “aposentadoria” para agricultores familiares – elas podem demorar décadas para crescer e serem comercializadas, mas quando chega a hora da colheita, proporcionam um bom retorno do investimento inicial.
As vantagens ambientais também são grandes. As árvores têm importante papel na redução da degradação, melhora da qualidade do solo e da água da propriedade, entre outros.
Pesquisas recentes mostram também que os Sistemas Agroflorestais podem exercer um importante papel na adaptação a eventos climáticos extremos.
SISTEMAS agroflorestais (SAFs): o que são e como aliam restauração e produção de alimentos. São Paulo: WRI Brasil, 18 nov. 2021. Disponível em: www.wribrasil.org.br/noticias/sistemas-agroflorestais -safs-o-que-sao-e-como-aliam-restauracao-e-producao-de-alimentos. Acesso em: 30 ago. 2024.
• As agroflorestas representam uma alternativa que alia a produção de alimentos à preservação das florestas. De que maneira esses dois resultados dos SAFs podem auxiliar na manutenção de recursos e na contenção de mudanças climáticas?
• Para os povos indígenas, como é o caso dos sateré-mawé, a terra não é apenas um recurso a ser explorado, mas algo que deve ser reverenciado e protegido como sagrado. Os saberes tradicionais dos povos indígenas têm sido aproveitados na implantação de agroflorestas modernas. Em sua opinião, de que maneira a relação desses povos com a terra se associa à prática de sistemas agroflorestais?
• De acordo com estudos do campo, a implantação de agroflorestas necessita de um investimento financeiro maior e pode render um retorno do capital investido mais lento. Em sua opinião, esse é um investimento que vale a pena? Justifique seu posicionamento com argumentos elaborados com base na leitura dos textos apresentados neste capítulo.
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor.

Plano cartesiano
O plano cartesiano foi difundido pelo filósofo, físico e matemático francês René Descartes (1596-1650) e por isso leva o seu nome. É constituído por dois eixos perpendiculares entre si que se encontram no ponto O , chamado de origem. O eixo horizontal é chamado de eixo das abscissas , enquanto o eixo vertical é chamado de eixo das ordenadas Os eixos dividem o plano em quatro regiões chamadas de quadrantes, que são numeradas no sentido anti-horário a partir do quadrante superior direito do plano.
O b a P y x 1o quadrante 2o quadrante 3o quadrante 4 o quadrante origem
Na seção Estudo do Gênero Textual, a leitura de gráficos foi essencial para a interpretação do infográfico. Essa habilidade de compreensão da linguagem matemática também é muito importante na realização de provas como o Enem, que a tem exigido com grande frequência na avaliação da área de Matemática e suas Tecnologias. Usualmente, os gráficos são utilizados em Matemática para representar dados estatísticos e funções. Embora respeite convenções gramaticais exclusivas da linguagem matemática, a interpretação de gráficos nem sempre exige o uso de cálculos complexos, como é possível perceber na questão a seguir, apresentada na prova do Enem de 2023.
(Enem) Estudantes trabalhando com robótica criaram uma “torneira inteligente” que automatiza sua abertura e seu fechamento durante a limpeza das mãos. A tecnologia funciona da seguinte forma: ao se colocarem as mãos sob a torneira, ela libera água durante 3 segundos para que a pessoa possa molhá-las. Em seguida, interrompe o fornecimento de água por 5 segundos, enquanto a pessoa ensaboa suas mãos, e finaliza o ciclo liberando água para o enxágue por mais 3 segundos. Considere o tempo (t), em segundo, contado a partir do instante em que se inicia o ciclo. A vazão de água nessa torneira é constante.
Um esboço de gráfico que descreve o volume de água acumulado, em litro, liberado por essa torneira durante um ciclo de lavagem das mãos, em função do tempo (t), em segundo, é





Para resolver essa questão, é necessário escolher a alternativa que apresenta a representação gráfica correta para os dados fornecidos. Os passos a seguir traçam um caminho interpretativo possível. Passo 1: identificar o tipo de gráfico que está em análise. Analise e escreva, no caderno, se o gráfico apresentado na questão do Enem é um gráfico de função ou um gráfico estatístico. Que informações você levou em consideração para chegar a essa conclusão?
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor Trata-se de um gráfico de função. Espera-se que os estudantes identifiquem que o gráfico está construído em um plano cartesiano e relaciona duas grandezas: o volume de água acumulado e o tempo decorrido.

Passo 2: observar os elementos que constituem o gráfico.
a) Em um gráfico estatístico, sempre há um título e uma fonte. Em gráficos de função, esses elementos são opcionais. O título de um gráfico costuma fornecer informações sobre os dados representados. Retorne à questão do Enem e responda: como o título poderia ajudar na interpretação dos dados?
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
b) Outros elementos importantes dos gráficos, presentes principalmente nos gráficos de função, são relacionados aos dois eixos do plano cartesiano: os títulos do eixo das abscissas e do eixo das ordenadas. Copie o quadro a seguir no caderno e complete-o com as informações solicitadas.
Título do eixo das ordenadas: Volume de água (L);
Título do eixo das abscissas: t (s).
Título do eixo das ordenadas
Título do eixo das abscissas

c) Com base nos títulos apresentados no item anterior, é possível depreender quais unidades de medida são usadas nos gráficos e o que está sendo medido. Copie o quadro a seguir no caderno e complete-o com as informações solicitadas.
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor.
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor.
O que é medido (grandeza)?
Unidade de medida
Escala dos eixos

d) Quais dados o gráfico apresentado na questão do Enem pretende retratar visualmente?
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
Passo 3: organizar as informações fornecidas no enunciado. De acordo com ele, o gráfico deve representar o volume de água acumulado durante a lavagem de mãos com a torneira inteligente. Elabore uma lista que explique o funcionamento desse ciclo: em que momentos e por quanto tempo a torneira libera ou interrompe a água?
a) Com a contagem do tempo em cada momento do ciclo da torneira inteligente, é possível excluir uma das alternativas. Qual é essa alternativa e por que ela está errada?
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor. Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
b) Leia novamente a última frase do enunciado. Ao atentar para as informações que ele apresenta, é possível eliminar outras três alternativas. Quais são elas e por que estão erradas?
Passo 4: identificar a alternativa correta. O caminho de resposta traçado até aqui é uma possibilidade em diversas questões de múltipla escolha: em vez de procurar, já no primeiro momento, pela alternativa correta, é possível descartar as alternativas erradas. No caso da questão apresentada, qual seria a alternativa correta?
Resposta: alternativa b
Os gráficos são muito utilizados por profissionais responsáveis por ana lisar e levantar dados para identificar tendências e padrões que p odem ser utilizados para orientar decisões estratégicas e resolver problemas complexos: os cientistas de dados . O trabalho desses profissionais envolve a articulação de conhecimentos de áreas como Matemática, Estatística e Computação e tem por objetivo lapidar dados e transformá-los em informações valiosas. Por isso, são requisitados a trabalhar em diferentes setores.
• Acrescente ao portfólio que está sendo elaborado pela turma o t rabalho do cientista de dados. Pesquise, especialmente, sobre as áreas mais promissoras em que esse pr ofissional pode atuar, como: Indústria, Setor Financeiro, Agronegócio, Telecomunicações e Bioestatística.
Libera a água: 3 segundos (de 0 s a 3 s) e 3 segundos (de 8 s a 11 s); interrompe a água: 5 segundos (de 3 s a 8 s).
A construção de sentidos em um texto, como você observou na seção Estudo Literário, depende de uma complexa rede de significações que podem ser literais ou figurativas. Essas construções têm relação com certas imagens mentais que se formam durante o ato de leitura. Em textos multimodais, como os infográficos estudados na seção Estudo do Gênero Textual, os sentidos são construídos por meio de um diálogo entre imagem e texto.

Todas essas relações de significação serão aprofundadas nesta seção, cujo foco são as figuras de linguagem, especificamente as figuras de palavras, e os elementos que compõem uma gramática visual. O objetivo é que você possa identificar esses conceitos tanto nos textos lidos quanto em outros gêneros textuais, para compreender sua ocorrência em vários contextos.
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor.
1. Releia estes versos do "Canto X", de Luís Vaz de Camões, e responda às questões a seguir.
41 Vês aqui a grande máquina do mundo,
42 Etérea e elemental, que fabricada
1. a) A máquina do mundo representa a ordem divina do mundo, o conhecimento do que é e do que será.
a) Recupere o sentido de máquina do mundo, no contexto do poema, e registre-o no caderno.
b) O eu lírico usa essa expressão em sentido conotativo. Explique essa afirmação considerando o contexto.
Não se trata literalmente de um equipamento físico que faz o mundo funcionar, mas do que representa essa máquina: o acesso ao conhecimento.
2. Agora, releia estes versos do poema “Canto de floresta”, de Tiago Hakiy, e copie no caderno as afirmações corretas sobre eles.
1 No silêncio da floresta
2 Lanço meu canto de pássaro
3 Meu canto de gavião
4 Árvores esverdeando a imensidão desse chão.
I. A e xpressão silêncio da floresta é empregada em sentido denotativo, porque se refere ao sentido literal da palavra silêncio (“ausência de som”) em relação à floresta.
II. Canto de pássaro é uma expressão metafórica, porque transfere o significado de pássaro para o enunciador (o eu lírico), associando o canto do homem à beleza do canto de um pássaro.
III. Canto de gavião é uma expressão denotativa, porque se refere ao canto de um gavião que acompanha a voz do canto do pássaro citada no verso anterior.
IV. A expressão imensidão desse chão é empregada em sentido conotativo, como metáfora, porque se refere ao aspecto monumental de uma floresta e, por isso, empresta o sentido de grandeza da floresta ao chão.
Estão corretas as afirmações I e II.
Figuras de linguagem
As figuras de linguagem são recursos da língua que expressam sentidos diversos do denotativo. Esses sentidos são chamados figurativos porque proporcionam representações simbólicas, ou seja, de ideias não literais. As figuras de palavras são aquelas em que uma palavra é empregada em um contexto diferente do comum, o que altera seu sentido por associação, comparação ou similaridade. São elas: metáfora, comparação, catacrese e sinestesia.
4. a) Jacques Cousteau foi oceanógrafo e dedicou anos de sua vida a pesquisas científicas relacionadas aos oceanos que resultaram em diversos documentários.
4. b) Na postagem, há a comparação entre o cuidado que se deve ter com o mar ao de fazendeiros que cultivam a terra, o que reforça a necessidade de adotar uma postura respeitosa, e não de exploração. A palavra que estabelece a comparação é como
3. Agora, releia estes versos de Os Lusíadas e observe os termos destacados.
1 Depois que a corporal necessidade
2 Se satisfez do mantimento nobre,
3 E na harmonia e doce suavidade
4 Viram os altos feitos que descobre,
5 Tétis, de graça ornada e gravidade,
6 Para que com mais alta glória dobre
7 As festas deste alegre e claro dia,
8 Para o felice Gama assim dizia:

a) A que se refere a expressão destacada?

b) Para compreender o sentido da expressão, é preciso acionar sensações percebidas por diferentes órgãos dos sentidos. Quais são eles?
Paladar e tato.
c) A expressão está em sentido figurado. O que ela sugere?
3. a) A expressão faz referência ao momento vivido pelos portugueses (“E na harmonia e doce suavidade [do momento]").
Sinestesia
Espera-se que os estudantes percebam que, por meio da expressão, são mobilizadas sensações distintas a fim de caracterizar o momento vivido.
Figura de palavra que condensa em uma mesma expressão diversas sensações captadas pelos órgãos dos sentidos. Essa característica já se faz presente na origem grega da palavra: syn- (simultâneo) + áisthes(is) (sensação).
4. Leia, ao lado direito, uma postagem com uma frase sobre o meio ambiente, publicada em um site especializado em notícias e reportagens sobre o meio ambiente.
a) A publicação tem uma frase de autoria de Jacques Cousteau (1910-1997). O que confere a ele credibilidade para falar sobre o tema de acordo com os dados apresentados na imagem?
b) Na postagem, há uma comparação responsável por contribuir com o significado da mensagem. Identifique essa comparação e a palavra que a estabelece.
c) E xplique a interpretação propiciada pela comparação feita.
Comparação

COUSTEAU, Jacques. Frases do meio ambiente. O Eco, [s l.], 23 ago. 2018. Disponível em: https://oeco.org.br/noticias/frases -do-meio-ambiente-jacques-cousteau-oceanografo-e -documentarista-23-08-2018/. Acesso em: 30 ago. 2024.
Nessa figura de palavra, dois termos ou expressões de universos diferentes são aproximados, o que resulta na semelhança entre seus sentidos. A aproximação ocorre por meio dos termos: tal como, assim como, tal qual , entre outros.
4. c) Ao aproximar o cultivo do mar à ação de fazendeiros e de caçadores, Cousteau constrói um elo de semelhança em relação à atividade de um fazendeiro – que geralmente cuida bem da terra e a faz prosperar e dar frutos, assim como protege os animais que nela habitam – e de distanciamento em relação ao caçador – figura associada à exploração, que visa apenas o benefício próprio.
5. a) A mensagem se refere à importância de preservar a Mata Atlântica, já que as árvores são responsáveis pela produção de oxigênio, essencial para a vida. Esse sentido é reforçado também pela presença do símbolo da ONG na parte central da imagem.
5. Leia esta campanha da Organização Não Governamental (ONG) SOS Mata Atlântica.
a) A mensagem apresentada no texto verbal só tem seu sentido completo se este for lido em diálogo com a imagem. Explique esse sentido.
b) O que a imagem das árvores representa nesse contexto? Como você chegou a essa conclusão?
5. b) Na imagem, as árvores estão dispostas em formato de pulmão, o que complementa o sentido do texto e reforça a importância de preservá-las (Mata Atlântica) para garantir a continuidade da vida (respiração).

Metonímia
SOS MATA ATLÂNTICA. [Campanha] Quer continuar a respirar? Comece a preservar. 2020. 1 cartaz. Disponível em: http://revistaecologico.com.br/ revista/edicoes-anteriores/edicao-125/ desmatamento/. Acesso em: 30 ago. 2024.

6. b) Resposta pessoal. É possível que o editorial do jornal tenha decidido destacar a chuva como responsável pelo adiamento da instalação da estrutura da ponte, por isso iniciou o título com a palavra chuva, e não com a informação do adiamento.
Essa figura consiste na substituição de um termo por outro, preservando algum tipo de ligação entre eles. Tal mudança não prejudica o sentido da mensagem, porque há certa correspondência entre os termos, seja uma parte por um todo, um continente pelo conteúdo, o autor pela obra, a causa pelo efeito, o concreto pelo abstrato, a marca pelo produto, o indivíduo pela classe, o instrumento pela pessoa que o utiliza ou o efeito pela causa. A metonímia pode também ocorrer em imagens, como é o caso da campanha da SOS Mata Atlântica.
6. Leia o título de uma notícia sobre as enchentes ocorridas no Rio Grande do Sul, em abril de 2024.

a) Qual é o objetivo da notícia?
ANDRADE, Andrei. Chuva danifica cabeceira da ponte provisória entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis e adia início da instalação da estrutura. GZH, Porto Alegre, 16 jun. 2024. Disponível em: https://gauchazh.clicrbs.com. br/pioneiro/geral/noticia/2024/06/chuva-danifica -cabeceira-da-ponte-provisoria-entre-caxias-do-sul -e-nova-petropolis-e-adia-inicio-da-instalacao-da -estrutura-clxi28uyc002e01445cmxmslq.html. Acesso em: 30 ago. 2024.
Informar sobre o adiamento do início da instalação da estrutura permanente em uma ponte, em razão da avaria causada pelas chuvas na ponte provisória instalada no local.
b) A informação principal não está no início do título, mas ao final dele. Crie uma hipótese para explicar o porquê.
c) Pelo contexto, o que significa cabeceira da ponte provisória? O uso dessa expressão consiste em um recurso muito utilizado em construções linguísticas. Qual é essa estratégia?
d) A palavra cabeceira não é um termo técnico para explicitar essa parte da ponte. Que outros termos poderiam ser usados para que o sentido fosse mantido?
Podem-se usar expressões como bases de apoio da ponte e estrutura que embasa a ponte.
Catacrese
6. c) É possível inferir que seja uma estrutura que embasa a ponte. A estratégia utilizada é a substituição de um termo por outro.
Essa figura de palavra é usada quando há uma lacuna linguística para denominar um conceito, parte, lugar ou objeto. Assim, na ausência de uma palavra específica para realizar essa denominação, acaba-se usando outra com um sentido conceitual semelhante, mas figurativo. A palavra catacrese também vem do grego, katá (para baixo) e khresis (decisão); por isso, pode ser compreendida como maleabilidade ao empregar termos não específicos. É o caso de cabeceira da ponte.


Metáfora
7. Observe a imagem e responda às questões a seguir.
a) Qual é a mensagem transmitida pela imagem?
b) E xplique como é possível identificar uma figura de linguagem presente nessa imagem, mesmo sem a presença de texto verbal.
■ Fotografia de sorvete.
7. a) A mensagem é de que o mundo está derretendo tal como um sorvete exposto ao calor.
É possível identificar uma correspondência de significados entre a bola de sorvete derretendo e o mundo derretendo por causa do aquecimento global. Essa transferência de sentido ocorre por meio de uma metáfora.
Nessa figura de palavra, há uma transposição de significados por meio de uma comparação implícita entre sentidos: uma palavra ou expressão é usada no lugar de outra, estabelecendo-se entre elas um ponto de semelhança, que cria, portanto, uma relação entre os dois sentidos. O termo metáfora deriva da palavra grega metaphorá , cujo significado é “transporte”. Esse recurso estilístico também pode ser apresentado em imagens.
8. Pesquise na internet outras imagens que façam uso de metáforas para motivar a reflexão sobre o meio ambiente. É importante selecionar apenas imagens sem textos verbais. Após realizar a seleção, explique, no caderno, o significado das mensagens transmitidas por essas imagens pesquisadas por você. Compartilhe suas considerações com a turma.
9. Agora, você e um colega vão produzir uma postagem para rede social que contenha uma metáfora em imagem e aborde questões relacionadas ao meio ambiente. Você pode selecionar uma das imagens resultantes da busca feita na atividade anterior.
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor
Para ler imagens, é preciso desenvolver habilidades de percepção sobre o mundo, o que ativa outras áreas de processamento de dados no cérebro humano, com base na aplicação de instrumentos que capacitem para essa leitura de mundo, desenvolvendo, assim, o letramento visual.
Essa percepção não se limita somente ao mundo palpável, mas também ao mundo virtual, que, no contexto das mídias e da hiperconexão, também é considerado real e se constitui essencialmente de imagens, cuja constituição e leitura parte de uma gramática própria, a gramática visual. Saber ler imagens, portanto, é ter instrumentos para desenvolver uma visão crítica sobre o mundo, para além da interpretação de textos verbais.
9. É importante que os estudantes produzam postagens visuais, sem a presença de textos explicativos. Oriente-os sobre a inserção de hashtags e a utilização de softwares de edição de imagens, se necessário.
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor
8. É importante que os estudantes atentem para o recorte da pesquisa que deve ser realizada. Essa definição pode ajudá-los na pesquisa a ser realizada na internet, auxiliando na identificação de palavras-chave, como metáfora e meio ambiente, que podem ser inseridas nos campos de busca de sites e bancos de imagens.
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor
10. As imagens a seguir compõem uma campanha da Organização Não Governamental WWF. Leia-a.


A cor é verde. Ela foi escolhida para representar os recursos naturais, as matas e as
O esvaziamento do dispensador revela a predominância da cor preta, o que transmite a ideia de esgotamento dos recursos naturais, representados pela cor
O sentido da campanha é associar, de modo visual, o consumo de papel –que é feito da polpa de celulose de árvores – ao esgotamento dos recursos naturais e, dessa forma, sensibilizar os usuários a reduzir o consumo de papéis.
& SAATCHI.
a) O formato do recorte que forma o desenho no dispensador de papéis se refere a quê?
É a silhueta das Américas Central e do Sul.
b Qual é a cor do papel que sai do dispensador e por que ela foi escolhida?
c) Conforme os papéis vão sendo tirados do dispensador, o recorte desenhado adquire outra cor. Qual é a mensagem que isso transmite?
d) Considerando que a ONG tem como missão a defesa do meio ambiente, qual é o sentido da campanha?
Gramática visual
Assim como na gramática da língua portuguesa há padrões que orientam a escrita dos textos verbais, existem elementos que organizam e estruturam as imagens e seus sentidos e constituem a gramática visual . Observe-os a seguir.
• Cor : cores variadas ou preto e branco (saturação); espectro monocromático ou nuances de uma mesma cor.
• Cont extualização : ausência de elementos de contexto ou muitos elementos contextuais.
• Representação: elementos abstratos ou formas detalhadas que representam algo objetivamente.
• Profundidade: imagens planas ou em perspectiva.
• Iluminação: ausência de luzes e sombras; jogos com esses elementos.
• Brilho: muito brilhante, com destaques, ou em tons variados de preto, branco e cinza.
Todos esses marcadores, em conjunto, expressam valores e ideologias culturais e devem ser analisados tanto separadamente quanto em relação ao todo da mensagem que intencionam transmitir.
11. a) A imagem I remete a culturas que seguem a religião muçulmana, pois a silhueta feminina indica o uso de hijabe, conjunto de vestimentas da cultura islâmica. Já a imagem II remete a culturas ocidentais, sobretudo a dinamarquesa, pois faz referência a brinquedos da marca Lego.
11. Agora, compare estas duas imagens que indicam ícones de portas de banheiro pelo mundo.


■ Placa de sinalização em banheiro.

■ Placa de sinalização em banheiro.
a) De acordo com seus conhecimentos, a que cultura cada uma das imagens remete?
b) Em que tipo de estabelecimento cada uma dessas placas poderia estar afixada?
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor Imagens e representação cultural Imagens podem representar padrões e modos de pensar de uma dada cultura e devem ser interpretadas também como forma de compreensão de diferentes práticas sociais.
12. Agora, leia a placa a seguir.

12. a) A figura representa um banheiro unissex, pois metade do corpo do ícone representa o feminino e a outra metade, o masculino.
a) O que a figura representa, considerando que se trata de uma placa que está na porta de um banheiro? Explique.
b) E ssa imagem seria compreendida em diferentes culturas? Por quê?
É possível que o sentido construído pelos ícones utilizados na imagem não seja compreendido em muitas culturas, a depender dos padrões sociais e culturais da sociedade em questão.
■ Placa de sinalização em banheiro.
Interpretação de imagens
Toda imagem deve ser lida e interpretada em cada um de seus elementos constitutivos relacionados ao(s) contexto(s) social(is) em que circula e aos padrões culturais da sociedade em questão. Essa interpretação deve levar em conta, portanto, as representações de mundo, a relação entre os interlocutores e o sistema de organização da imagem.

2. b) O efeito de humor está na declaração de amor que Snoopy escreve para sua amada e que, no terceiro quadrinho, recebe um tom de sarcasmo quando ele promete “nadar cachorrinho”, visto que ele é um cachorro e, portanto, só poderia nadar nesse estilo.
1. Leia este cartaz que anuncia uma peça de teatro e registre no caderno a(s) alternativa(s) correta(s) sobre sua interpretação.

Leia
I. Os atores do cartaz representam diferentes versões do poeta Luís Vaz de Camões, considerando que o título da peça remete justamente às línguas faladas por ele.
II. A expressão língua de Camões é uma metáfora para a língua portuguesa; portanto, há na expressão uma transferência de sentidos.
III. Língua de Camões é uma metonímia que se refere à expressão língua portuguesa , porque o adjetivo portuguesa desta é substituído pelo sobrenome de Luís Vaz de Camões, seu poeta defensor.
IV. Língua de Camões é uma sinestesia , porque se refere à sensação de paladar implícito da língua falada e utilizada por Luís Vaz de Camões.
V. O s atores e o cenário com o timão indicam o contexto das Grandes Navegações, e a expressão língua de Camões se refere à língua portuguesa cantada por Luís Vaz de Camões em seu poema épico em homenagem a esse momento histórico.
Estão corretas as afirmações III e V.

a) Qual é o objetivo do texto que Snoopy está escrevendo para sua interlocutora?
b) Como se constrói o efeito de humor da tira?
O objetivo é fazer uma declaração de amor.
c) No terceiro quadrinho, ele usa uma expressão que pode ser classificada como figura de linguagem. Identifique a expressão e explique a figura.
2. c) A expressão é nadando cachorrinho. A figura de linguagem é catacrese, pois o nado cachorrinho se trata de um tipo de nado de sobrevivência, realizado por quem não tem o domínio técnico da habilidade de nadar. Não há um nome técnico para esse tipo de nado, portanto o nome nado cachorrinho é uma aproximação de sentido, na falta de outro que melhor denomine o estilo livre do nado de sobrevivência, daí a catacrese
4. a) A logomarca tem letras bem grandes e construídas em blocos de cores que representam, majoritariamente, as cores da bandeira brasileira. Esses blocos, que se assemelham a peças de jogos de montar infantis, em diálogo com o slogan “União e reconstrução”, podem se relacionar à matéria-prima para reestruturação do país, que o governo tem a intenção de fazer em seu programa.
3. Leia o trecho de uma crônica de Rachel de Queiroz (1910-2003) a seguir.
Metonímia – a palavra me ficou na memória desde o ano de 1930, quando publiquei o meu livro de estreia, aquele romance de seca chamado O Quinze. Um crítico, examinando a obrinha, censurava-me porque, em certo trecho da história eu falava que o galã saíra a andar “com o peito entreaberto na blusa”. “Que disparate é esse?”, indagava o sensato homem. “Deve-se dizer é: blusa entreaberta no peito”. Aceitei a correção com humildade e acanhamento, mas aí o meu ilustre professor de Latim, Dr. Matos Peixoto, acudiu em meu consolo. Que estava direito como eu escrevera; que na minha frase eu utilizara uma figura de retórica, a chamada metonímia […].
3. a) O motivo do que ela chamou de censura foi a compreensão de um crítico sobre uma passagem do livro, na qual ele afirma estar com uma ordenação equivocada.

QUEIROZ, Rachel de. Metonímia, ou a vingança do enganado. In: QUEIROZ, Rachel de. 100 crônicas escolhidas: uma rede, um alpendre, um açude. Rio de Janeiro: J. Olympio, 2021. E-book.
a) Qual foi o motivo da censura que Rachel de Queiroz afirma ter sofrido por ocasião da publicação de seu primeiro livro?
3. b) Sim, ela inclusive afirma que aceitou com humildade e acanhamento.
b) Em seu relato, a autora considerou a leitura do crítico correta? Explique.
c) O professor de latim da escritora questionou a posição do crítico. Ao analisar o contexto relatado, considerando seus conhecimentos sobre figuras de palavras, você considera que o crítico estava certo ou errado? Justifique
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
4. Reúna-se com um colega, observe as imagens a seguir e responda ao que se pede.

BRASIL. Ministério da Educação. Escola das Adolescências. Brasília, DF: ME, [2023]. Disponível em: www.gov.br/mec/pt-br/escola-das-adolescencias
Acesso em: 4 set. 2024.

a) A Imagem II é a logomarca do governo, no quadriênio 2022-2025. Explique possíveis interpretações para a logomarca criada, quanto ao estilo de construção, às cores utilizadas e sua relação com o slogan que a acompanha.
b) A Imagem I é um print do site do Ministério da Educação. Analise os elementos que a compõem e registre por escrito o diálogo existente entre a logomarca (imagem II) e a página inicial do site.
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
c) Que valores e ideias podem ser depreendidas desse diálogo entre a logomarca e a página do site?
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
d) Em sua opinião, por que o banner sobre o programa Escola das Adolescências traz a imagem de um adolescente negro?
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
e) Considerando seus conhecimentos sobre gramática visual, você identifica falhas na criação da logomarca em relação às cores e aos formatos? O que seria possível fazer para aprimorá-las?
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor.
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor.
Nesta seção, você vai produzir um infográfico sobre o povo sateré-mawé, conhecido como “filhos do guaraná”.
Gênero

Infográfico
Interlocutores
Estudantes de todos os anos e outros membros da comunidade escolar.
Propósito/ finalidade Publicação e circulação
Apresentar a cultura e o modo de vida do povo sateré-mawé.
Local de grande circulação na escola (mural) ou redes sociais oficiais da escola.
1. A leitura e a produção de um infográfico são tarefas que exigem habilidades voltadas à leitura do texto multimodal e uma capacidade de articular diferentes elementos para criar sentidos. Leia, a seguir, o trecho de um artigo científico que apresenta considerações sobre a feitura do infográfico.
Concebe-se a divulgação científica midiática e o recurso à infografia impressa ou virtual como algo criado por e para uma nova configuração das relações da ciência com a sociedade. Há a consolidação de uma comunicação simples e, ao mesmo tempo, complexa, em que imagem e texto dizem muito pelo detalhe e sincretismo que estabelecem. Abrem-se campos anteriormente cercados por uma linguagem antes hermética da ciência, para o saber de públicos mais amplos. Oportuniza-se uma capacitação para a leitura sobre fatos ou fenômenos do cotidiano, de ciência no cotidiano em verbo e imagem.
Não se defende que a infografia simplesmente facilite a atividade leitora, já que se cria um novo modo de dizer especial e específico. Sustenta-se que a otimização informativa requer, isto sim, novos alfabetismos e inovadoras capacidades de produção e compreensão do texto.
SOUZA, Juliana Alles de Camargo de. Infográfico: modos de ver e ler ciência na mídia. Bakhtiniana, São Paulo, v. 11, n. 2, p. 190-206, maio/ago. 2016. p. 203-204. Disponível em: https://revistas.pucsp.br/index.php/bakhtiniana/article/view/23502. Acesso em: 30 ago. 2024.
a) Segundo o artigo científico, por que é errado afirmar que a infografia simplesmente facilita a atividade leitora?
Porque a infografia cria um novo modo de dizer que não necessariamente é mais fácil, mas sim especial e específico, exigindo novos alfabetismos para compreensão e capacidades de produção inovadoras.
b) Considerando o tema do infográfico que você vai produzir – o povo sateré-mawé –, faça uma lista dos elementos verbais e não verbais que você gostaria de utilizar nessa produção.
Resposta pessoal. Auxilie os estudantes a entender que o tema pode auxiliar na escolha especialmente dos elementos não verbais. De qualquer forma, explique que esse é um exercício de criação inicial, pois, após a pesquisa de conteúdos sobre os sateré-mawé, eles vão conseguir fazer essa escolha com maior segurança.
1. Na seção Estudo do Gênero Textual, o infográfico apresentado em uma publicação jornalística contou com uma pesquisa anterior à sua criação. Considerando esse caminho de produção do infográfico, faça uma pesquisa na internet (utilize sites confiáveis e de instituições reconhecidas, como o Instituto Socioambiental – ISA) sobre o povo sateré-mawé. Procure consultar também fontes diversas: textos jornalísticos, textos de enciclopédias virtuais e artigos acadêmicos, entre outros.
2. Ao longo da pesquisa, certamente você encontrará diversas informações sobre os sateré-mawé. Então, o próximo passo é organizar esses conteúdos e decidir quais serão as informações apresentadas no infográfico. Aproveite o momento para definir o recorte temático do infográfico.
3. Com o recorte temático definido, resuma as informações em pequenos textos. Além disso, crie um título para o infográfico e um texto introdutório que explique ao leitor o que pretende informar. Perceba se será necessário também criar subtítulos, que costumam hierarquizar as informações e organizar a leitura.
4. Recupere a sua lista dos elementos verbais e não verbais que pretendia utilizar. Verifique se, após as últimas decisões, ela merece alterações. Aproveite para começar a pensar em como será feita a articulação dos elementos não verbais com os textos verbais produzidos.

5. Para que a articulação entre linguagem verbal e não verbal seja bem-sucedida, utilize uma cartolina a fim de fazer o rascunho do seu infográfico; escolha a ordem em que as informações devem ser lidas pelo leitor, definindo os pesos, ou seja, a hierarquia dos conteúdos. Aproveite esse momento para decidir também como os elementos gráficos serão utilizados: diferentes fontes de letras, destaques em negrito e itálico etc. Defina as cores que serão utilizadas, garantindo que elas se relacionem ao tema.
6. Os infográficos podem ser estáticos ou animados. Os infográficos interativos são encontrados em ambientes virtuais e contam com gifs, vídeos, áudios e hiperlinks. Após trilhar os últimos passos de planejamento, decida qual será o formato do seu infográfico. Caso escolha o animado, faça uma pesquisa em sites específicos de produção de infográfico. Caso escolha o estático, você pode utilizar uma cartolina como suporte.
Para construir o infográfico, retome os conhecimentos praticados sobre o diálogo entre imagem e texto para a compreensão da mensagem e evite atribuir aos textos imagens meramente ilustrativas. Revise também os elementos que compõem a gramática visual do infográfico – cor, contextualização, representação, profundidade, iluminação e brilho – e aplique-os de modo crítico, considerando a intenção da mensagem que se deseja transmitir ao leitor.
1. Leia as questões a seguir e utilize-as como roteiro para avaliação e reescrita do infográfico.
• As fontes de pesquisa utilizadas foram citadas ao final do infográfico?
• Há uma presença proporcional de elementos não verbais e textos verbais?
• A ordem de leitura do infográfico, assim como a hierarquia de informações, está clara?
• As cores escolhidas para o infográfico se relacionam ao conteúdo apresentado?
• Foi feita a revisão do texto verbal para garantir uma escrita acessível ao leitor não especialista e que atenda à norma-padrão?
2. Após verificar esses itens, faça as alterações necessárias no infográfico.
Os infográficos produzidos devem ser compartilhados com a comunidade escolar. No entanto, a turma vai decidir em conjunto de que maneira esse compartilhamento ocorrerá. Os infográficos estáticos, feitos em cartolina, podem ser fixados em murais, em um ambiente de grande circulação da escola. Os infográficos animados podem ser compartilhados nas redes sociais da escola ou em um blogue da turma, por exemplo. O mais importante é pensar nas melhores maneiras desse conteúdo chegar ao público-alvo pretendido.
1. É um movimento que promoveu o resgate dos ideais e das obras da Antiguidade clássica, tendo como principais características a valorização do conhecimento, do ser humano e da racionalidade.
2. Narração de feitos heroicos e construção poética feita em versos. A obra Os Lusíadas é escrita em versos e apresenta os feitos de Vasco da Gama e dos portugueses durante as Grandes Navegações.
3. A máquina do mundo possibilitava o conhecimento do que é e do que será, representa a ordem divina do mundo e o acesso a esse conhecimento é concedido a Vasco da Gama.
4. Diálogo entre linguagens (verbal e não verbal), ampliação das possibilidades de leitura e apresentação de dados de forma mais didática.
Neste capítulo, a seção Estudo Literário apresentou o poema épico Os Lusíadas e a sua relação com o Humanismo, bem como a construção identitária indígena , no poema "Canto de floresta". Em Estudo do Gênero Textual, foram exercitadas a análise e a produção do gênero infográfico assim como a análise do recurso hipertexto em textos multimodais. Em Estudo da Língua, foram estudadas as linguagens verbal e não verbal, a gramática visual e as figuras de linguagens, mais especificamente as figuras de palavra. Agora, chegou o momento de sintetizar essas aprendizagens. Para tanto, procure responder com suas palavras às questões a seguir. Se necessário, releia alguns dos conceitos para que seja possível elaborar sua resposta.

1. Como se define o movimento cultural e intelectual conhecido como Humanismo?
2. Cite duas características do poema épico e aponte como elas estão presentes em Os Lusíadas.
3. Com base nos estudos do capítulo, que considerações podem ser feitas acerca da máquina do mundo, conceito apresentado no "Canto X" de Os Lusíadas?
4. Cite três características do gênero textual infográfico.
5. Por causa da articulação de diferentes linguagens e de seus elementos.
5. Por que o gênero textual infográfico pode ser considerado um texto multimodal?
6. Cite as principais figuras de palavras e seus significados.
7. Explique sua compreensão sobre os elementos que compõem uma gramática visual e que contribuições esses estudos trazem ao seu conhecimento de mundo.
6. Sinestesia (condensação de diferentes sensações), comparação (aproximação explícita entre termos), metonímia (substituição de termos que tem alguma ligação), catacrese (uso de termos não específicos) e metáfora (aproximação implícita de termos).
Além da compreensão do conteúdo, é importante refletir sobre seu desempenho e aprendizagem ao longo do capítulo. Para isso, no caderno, reproduza o quadro a seguir e responda às questões. Em seguida, converse com os colegas e com o professor sobre formas de aprimoramento de sua aprendizagem e anote nas observações.
Ao longo do estudo do capítulo, percebo que...
…registrei as respostas das atividades no caderno, em ordem sequencial, buscando organizar meus estudos.
…compreendi o movimento literário em destaque e seu contexto sócio-histórico na seção Estudo Literário
…compreendi os conceitos de infográfico e sua relação com a gramática visual.
…consultei fontes confiáveis nas atividades de pesquisa.
Fui proficiente Preciso aprimorar Observações












7. Os elementos (cor, contextualização, representação, profundidade, iluminação e brilho) que compõem a gramática visual possibilitam identificar padrões e ideologias culturais que devem ser analisadas com o objetivo de realizar uma interpretação adequada da mensagem que se pretende transmitir.
1. a) Embora o texto 1 seja uma charge, ele é nomeado como infográfico. A ironia está justamente nessa nomeação, já que o texto não se trata literalmente de um infográfico, mas de uma espécie de paródia desse gênero. A associação feita entre os dois gêneros não se restringe à linguagem verbal. Na linguagem não verbal, a ilustração parece compor um gráfico de colunas, diferente dos gráficos apresentados em infográficos, que têm proporções precisas, baseadas em dados advindos de pesquisa, com propósito informativo. Na charge, essa imagem que remete a colunas de um gráfico cumpre seu papel: criticar o contraste gerado pela concentração de renda.
Muitos assuntos abordados neste capítulo têm sido objetos de questões de vestibulares e provas de ingresso. A questão comentada a seguir é da segunda fase da Fuvest, prova de ingresso para os cursos da Universidade de São Paulo (USP). Leia-a e atente para o formato de elaboração, a fim de que seja possível interpretá-la corretamente.
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor

1. (Fuvest-SP) Considere os textos e responda à questão:

Na segunda fase, a Fuvest apresenta um tipo de avaliação em que o estudante deve elaborar respostas por escrito para questões dissertativas. Em avaliações como essa, o desenvolvimento do raciocínio lógico, o atendimento à norma-padrão e a capacidade argumentativa são habilidades analisadas.
Assim como no infográfico, a análise da charge exige uma capacidade leitora que estabeleça relações entre a linguagem verbal e a não verbal.
a) Em que consiste a ironia da imagem do texto 1 quando associada ao uso do termo “infográfico”?
b) Considerando a crítica veiculada pela charge, assinale a relação entre o texto 2 e o símbolo de “frágil” impresso na imagem do papelão do texto 1.
2. b) Refere-se a serviços de atendimento telefônico ao cliente (como telemarketing ou os Serviços de Atendimento ao Cliente de empresas). Ao mencionar que é necessário teclar 2 para ouvir novamente a mensagem, fica clara a remissão a esse contexto.
Um dos objetivos da questão é analisar os conhecimentos do candidato acerca de dois gêneros textuais, o infográfico e a charge, verificando se ele sabe identificar semelhanças e diferenças a fim de compreender a ironia suscitada pela associação dos dois. Ao se deparar com uma questão dissertativa, é importante ler o enunciado por completo, pois nele há informações importantes para a formulação da resposta. Nesse caso, por exemplo, o enunciado do item b indica ao candidato que o gênero do texto apresentado é a charge, informação que pode auxiliá-lo a compreender a ironia presente no título.
2. (Fuvest-SP) Examine a tirinha.
2. a) No terceiro quadrinho da tira, há uma quebra de expectativa em relação ao sentido da palavra protocolo proposta nos dois primeiros quadros. A associação da palavra protocolo à onomatopeia pocotó é responsável por produzir a comicidade da tira.

a) De que maneira o terceiro quadrinho contribui para a construção do humor da tirinha?
b) A que contexto se relaciona o último enunciado da tirinha? Justifique.
1. b) Enquanto no texto 2 o símbolo que indica a fragilidade é representado por mãos em torno de uma caixa, mostrando que ela precisa ser transportada com cuidado, no texto 1, o símbolo que indica o conteúdo frágil é uma taça quebrada desenhada na caixa de papelão. Considerando a crítica veiculada pela charge, é possível afirmar que ela revela o cuidado com mercadorias, e não com os cidadãos em situação de pobreza e abandono.

Respostas pessoais. Espera-se que os estudantes percebam que a utilização de um ângulo baixo para a captura da imagem atribui maior dimensão e importância aos elementos capturados. Nesta fotografia, as mulheres indígenas são apresentadas em posição de protagonismo, e excluem-se todos os demais elementos e pessoas que se encontram por trás da cena retratada.
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor.
Com base em seus conhecimentos e na fotografia apresentada na abertura do capítulo, responda às questões a seguir.
1. Observe o enquadramento da fotografia. Nela, a imagem das mulheres é capturada com a câmera posicionada em ângulo baixo, ou seja, a cena é focalizada de baixo para cima. Em sua opinião, o resultado do posicionamento da câmera influencia na interpretação da imagem? Explique.
2. Preste atenção às expressões faciais, às posições, aos gestos e aos adereços das mulheres indígenas. Como esses elementos contribuem para os efeitos de sentido depreendidos da imagem, de acordo com a sua interpretação?
3. Em sua opinião, qual é a importância do protagonismo das mulheres indígenas como autoras de literatura? Explique considerando o que você entende como literatura.
4. De que modo as notícias e os recursos não verbais a elas associados, como as fotografias, podem ser divulgadores de relações de poder?
5. Em sua opinião, como as escolhas do ângulo de captura da imagem e do momento da fotografia podem ser consideradas recursos de linguagem?


• C ampo artístico-literário
• C ampo jornalístico-midiático
Temas
Contemporâneos
Transversais
• Multiculturalismo: Diversidade
Cultural
• Cidadania e Civismo: Educação em Direitos Humanos
Avance até a seção Oficina de Projetos nas páginas finais do livro e inicie a etapa "Dividir tarefas e empreender". Se for preciso, releia a etapa anterior para dar continuidade ao trabalho proposto.

2. Resposta pessoal. Com base nos adereços utilizados pelas mulheres, como os adornos de cabeça, colares e braceletes de cores diversas, é possível deduzir que elas pertencem a grupos indígenas diferentes, representando a diversidade dos povos indígenas, mas, ao mesmo tempo, com base nas mãos dadas e nos sorrisos, é possível deduzir que ambas as mulheres estão celebrando algo que atende aos interesses dos povos que elas representam.
3. Respostas pessoais. Espera-se que os estudantes reconheçam que a literatura elaborada por mulheres indígenas oferece outro ponto de vista sobre o Brasil e sobre as relações com a natureza e com a comunidade. É possível que algum estudante faça menção à literatura de transmissão oral.
4. Notícias e suas imagens apresentam fatos e devem ser imparciais, no entanto sua escrita é invariavelmente imbuída de um ponto de vista, assim como a produção da fotografia, o que torna impossível eliminar totalmente a subjetividade do texto na notícia. Assim, esse ponto de vista pode evidenciar ou suprimir o poder de um determinado grupo, seja por escolhas vocabulares, seja pelo ponto de observação do objeto fotografado.
■ LIMA, Sérgio. Joenia Wapichana e Sônia Guajajara. Fotografia, Brasília, 2023.
■ Joenia Wapichana (1973-), recém-empossada como presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), comemora com a ministra dos Povos Indígenas do Brasil, Sônia Guajajara (1974-), ao tomar posse em Brasília, em 3 de fevereiro de 2023.
5. Resposta pessoal. Ao efetuar as escolhas do momento apropriado para captura da imagem, como o momento de sorrisos de confraternização, no caso das mulheres indígenas, e do ângulo de captura, o autor da foto transmite uma mensagem por meio da linguagem fotográfica.
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor.
Você vai ler o poema “Marabá”, escrito por Gonçalves Dias (1823-1864) em 1849. Ele foi publicado no livro Últimos cantos, de 1851, e integra a fase mais importante da carreira do autor. Marabá, eu lírico desse poema, é uma jovem indígena que não se encaixa nos padrões de beleza estabelecidos por seu povo.

Antes de iniciar a leitura do poema, discuta com os colegas as questões a seguir.
• De que modo você imagina que Marabá irá romper com os padrões de beleza estabelecidos pelo seu povo? Em sua resposta, elabore uma descrição de como você acredita que a indígena será retratada no poema.
Respostas pessoais. Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
• Você acredita que o fato de Marabá não se encaixar nos padrões de beleza estabelecidos pelo seu povo será percebido de forma positiva ou negativa pelos membros do seu grupo? Explique.
Respostas pessoais. Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
Marabá
Eu vivo sozinha; ninguém me procura!
Acaso feitura
Não sou de Tupá!
4 Se algum d’entre os homens de mim não se esconde, — Tu és, me responde,
6 — Tu és Marabá!
— Meus olhos são garços, são cor das safiras, — Têm luz das estrelas, têm meigo brilhar;
9 — Imitam as nuvens de um céu anilado,
10 — As cores imitam das vagas do mar!
11 Se algum dos guerreiros não foge a meus passos:
12 “Teus olhos são garços,
13 “Responde anojado; mas és Marabá:
14 “Quero antes uns olhos bem pretos, luzentes,
15 “Uns olhos fulgentes
16 “Bem pretos, retintos, não cor de anajá!”
17 — É alvo meu rosto da alvura dos lírios,
18 — Da cor das areias batidas do mar;
19 — As aves mais brancas, as conchas mais puras
20 — Não têm mais alvura, não têm mais brilhar. —
21 Se ainda me escuta meus agros delírios:
22 “És alva de lírios,
23 “Sorrindo responde; mas és marabá:
24 “Quero antes um rosto de jambo corado,
25 “Um rosto crestado
26 “Do sol do deserto, não flor de cajá.”
27 — Meu colo de leve se encurva engraçado,
28 — Como hástea pendente do cáctus em flor;
29 — Mimosa, indolente, resvalo no prado,
30 — Como um soluçado suspiro de amor! —
31 “Eu amo a estatura flexível, ligeira,
32 “Como uma palmeira
33 “Então me responde; tu és Marabá:
34 “Quero antes o colo da ema orgulhosa,
35 “Que pisa vaidosa,
36 “Que as flóreas campinas governa, onde está.”
37 — Meus loiros cabelos em ondas se anelam,
38 — O oiro mais puro não tem seu fulgor;
39 — As brisas nos bosques de os ver se enamoram,
40 — De os ver tão formosos como um beija-flor! —
41 Mas eles respondem: “Teus longos cabelos,
42 “São loiros, são belos,
43 “Mas são anelados; tu és Marabá:
44 “Quero antes cabelos, bem lisos, corridos,
45 “Cabelos compridos,
46 “Não cor d’oiro fino, nem cor d’anajá.”
47 E as doces palavras que eu tinha cá dentro
48 A quem n’as direi?
49 O ramo d’acácia na fronte de um homem
50 Jamais cingirei:

51 Jamais um guerreiro da minha araçoia
52 Me desprenderá:
53 Eu vivo sozinha, chorando mesquinha,
54 Que sou Marabá!
DIAS, Gonçalves. Marabá. In: DIAS, Gonçalves. Últimos cantos: poesias. Rio de Janeiro: Typographia de F. de Paula Brito, 1851. p. 36-38. Disponível em: https://digital.bbm.usp. br/bitstream/bbm/4123/1/006346_COMPLETO.pdf. Acesso em: 8 set. 2024.
O poema que você leu faz parte do movimento literário conhecido como Romantismo. Esse movimento surgiu no final do século XVIII, na Europa, e se estendeu até meados do século XIX. No contexto europeu, o Romantismo se estabeleceu em um período de intensas mudanças políticas, sociais e culturais, impulsionadas principalmente pela Revolução Industrial e pela Revolução Francesa.
feitura: forma física.
marabá: filho de indígena com branco.
garço: esverdeado.
anilado: da cor azul anil.
vaga: elevação da água de mares, rios e lagos; onda muito alta.
anajá: fruta de coloração marrom-clara.
agro: rigoroso.
jambo: espécie de árvore e seu respectivo fruto.
crestado: tostado, torrado, queimado. hástea: haste.
indolente: que age com lentidão e pouca vitalidade.
resvalo: ato de escorregar.
oiro: ouro.
acácia: arbusto comumente encontrado em regiões temperadas e tropicais.
araçoia: saia feita de penas usada pelas mulheres indígenas.
Antônio Gonçalves Dias foi um importante poeta, professor e etnólogo brasileiro. O autor, que nasceu em Caxias, no Maranhão, é um dos principais poetas da primeira geração do Romantismo brasileiro. Em 1838, Gonçalves Dias foi para Portugal estudar Direito na Universidade de Coimbra e lá escreveu a maior parte de suas obras. Depois de formado, o escritor retornou ao Brasil e foi morar no Rio de Janeiro com o objetivo de se envolver com o meio literário da capital nacional da época. O poeta alcançou o sucesso literário com a publicação de Primeiros cantos, em 1847. ■ Retrato de Gonçalves Dias, cerca de 1855.
A Revolução Industrial provocou a migração de pessoas do campo para as cidades em busca de trabalho nas novas fábricas, transformando profundamente a sociedade e a economia. Já a Revolução Francesa resultou na queda da monarquia absolutista e na instauração da República. O Romantismo, com sua valorização da emoção e da imaginação, surgiu como uma reação aos ideais Iluministas, em voga desde o Renascimento cultural, que priorizavam a racionalidade, o pensamento científico e o progresso. Por isso, os textos do período romântico apresentam maior liberdade formal e não costumam seguir estruturas fixas. No contexto brasileiro, o movimento romântico floresceu durante o período imperial, após a Independência do Brasil, mais precisamente durante o reinado de D. Pedro II, mas antes da Proclamação da República. O Romantismo brasileiro atravessou um momento em que o Brasil era um país escravocrata que caminhava para a abolição. Nesse período, as manifestações artísticas passaram a valorizar cada vez mais os temas nacionais como uma tentativa de construção de identidade para o povo brasileiro. O movimento romântico se divide em três fases ou gerações. Neste capítulo, você irá estudar as características da primeira geração romântica brasileira.

1. a) Marabá atribui a si mesma características positivas, uma vez que se compara a elementos da natureza percebidos como belos, o que se percebe nos trechos ”meu rosto da alvura dos lírios” e “Meus olhos […] / Têm luz das estrelas”.
1. c) Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes compreendam que as percepções contrastantes sobre Marabá constroem o sentido do poema, evidenciando o conflito entre ela e os homens indígenas do seu povo.
1. Responda às questões a seguir, considerando a discussão proposta no boxe Primeiro olhar.
a) A indígena Marabá atribui a si mesma características positivas ou negativas? Explique.
b) Do ponto de vista dos homens indígenas, as características de Marabá são percebidas como positivas ou negativas? Justifique.
São percebidas como negativas, pois ela não se enquadra nos padrões de beleza construídos em sua comunidade.
c) Analise o efeito de contraste entre a percepção de Marabá sobre si mesma e a percepção dos homens sobre suas características. De que modo esse efeito contribui para o sentido do poema?
2. a) Marabá sofre rejeição por não corresponder ao padrão de beleza adotado pelo seu povo.
2. Observe como as características físicas de Marabá são descritas no poema.

a) Os homens indígenas valorizam características físicas específicas, enquanto Marabá apresenta outro padrão de beleza. De que modo a indígena Marabá é afetada por isso? Explique.
b) Qual é a reação de Marabá diante da desvalorização que sofre por parte dos homens de seu povo e como isso se expressa no poema?
c) Em seu ponto de vista, quais podem ser as consequências da propagação de padrões estéticos rígidos na sociedade? Justifique, exemplificando com elementos do poema.
3. Observe o significado do termo marabá no glossário do poema.
Marabá
valorizando suas características
uma tentativa de conseguir como expresso nos versos da segunda, quarta, sexta e oitava
a) Considerando o significado do termo, qual aspecto da identidade de Marabá faz com que ela seja rejeitada pelos homens indígenas?
Suas características físicas (olhos esverdeados, pele clara), denunciando sua miscigenação.
b) Em sua opinião, o que faz com que as características físicas de Marabá motivem a sua rejeição pelos homens indígenas?
Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes percebam que os homens rejeitam as características físicas de Marabá por elas indicarem a sua miscigenação.
c) As características de Marabá e o modo como elas são percebidas pelos homens indígenas refletem tensões e conflitos presentes na formação da sociedade brasileira. Em sua opinião, quais são essas tensões e esses conflitos? Explique.
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor.
Primeira geração romântica
Respostas pessoais. Espera-se que os estudantes mencionem as tensões ocorridas já no contato inicial dos povos indígenas com o branco, durante o período colonial, e os flagrantes desníveis econômicos e sociais observados entre os grupos raciais que formam a sociedade brasileira, apesar de a miscigenação ser uma característica da população brasileira.
O poema lido por você é representativo da primeira geração romântica, que marca o início do Romantismo no Brasil. É importante destacar que a divisão do movimento em fases ou gerações tem por objetivo facilitar o estudo e o reconhecimento das características do período histórico que se manifestam nas produções literárias da época. Entre as principais características dos poemas da primeira geração romântica estão:
• E xaltação da natureza . Os elementos da natureza são utilizados pelos autores da primeira geração romântica como recurso de expressividade. A natureza é apresentada com características associadas à diversidade e à exuberância da paisagem brasileira, geralmente de forma idealizada. Além disso, tais elementos adquirem significados simbólicos e costumam representar sentimentos e emoções das personagens.
• Indianismo. O indígena é comumente retratado como um herói. Assim, as características atribuídas a ele costumam ser idealizadas e estereotipadas, e não se consideram as peculiaridades e a subjetividade de cada indivíduo ou sociedade indígena. Nesse contexto, a figura do indígena substitui a figura do cavaleiro medieval, comumente utilizada na literatura romântica europeia.
• N acionalismo e ufanismo . Muitos autores da primeira geração romântica, no empenho de delinear uma identidade nacional, exaltam os elementos naturais e históricos do Brasil em suas produções literárias. Essa exaltação frequentemente assume um tom exagerado, desconsiderando uma visão crítica sobre o país.
• Valorização da subjetividade e das emoções . Na primeira geração romântica, os sentimentos do eu lírico assumem posição central na composição poética. Por meio da expressão de suas emoções, o eu lírico procura compreender a si mesmo e o mundo ao seu redor. Nesse contexto, o amor costuma ser idealizado.
2. c) Respostas pessoais. Espera-se que os estudantes reconheçam que a propagação de padrões estéticos rígidos pode gerar exclusão, baixa autoestima e sofrimento emocional daqueles que não correspondem aos padrões preconizados. No poema, Marabá sofre rejeição e exclusão em razão de suas características físicas.
4. a) A idealização do amor em “Marabá” está presente tanto no desejo latente do eu lírico de ser aceito e amado quanto em sua constatação de que só lhe cabe o amor platônico, conforme se depreende das duas últimas estrofes do poema.
4. Releia o poema “Marabá”, considerando o que você aprendeu sobre a primeira geração romântica, e responda às questões a seguir.
a) De que forma a idealização do amor é abordada no poema?

4. b) O poema aborda a miscigenação, elemento importante na formação do povo brasileiro.
b) Qual característica dos poemas da primeira geração romântica relacionada à formação do povo brasileiro é possível encontrar no poema “Marabá”?
5. Leia, a seguir, um trecho do poema “Canção do exílio”, também escrito por Gonçalves Dias.
1 Minha terra tem palmeiras,
2 Onde canta o Sabiá;
3 As aves, que aqui gorjeiam,
4 Não gorjeiam como lá.
5 Nosso céu tem mais estrelas,


6 Nossas várzeas têm mais flores,
7 Nossos bosques têm mais vida,
8 Nossa vida mais amores.
DIAS, Gonçalves. Canção do exílio. In: DIAS, Gonçalves. Primeiros cantos: poesias. Rio de Janeiro: Eduardo e Henrique Laemmert, 1846. p. 9. Disponível em: https://digital.bbm.usp.br/view/ ?45000018348&bbm/4135#page/12/mode/2up. Acesso em: 12 set. 2024.
a) No poema, a idealização da natureza assume outra função se comparada ao poema “Marabá”. Qual é essa função? Explique.
b) Faça uma busca em dicionários pelos termos nacionalismo e ufanismo e, em seguida, explique a principal diferença entre eles.
c) Em seu ponto de vista, é possível atribuir ao poema características nacionalistas ou ufanistas? Discuta a resposta com a turma.
Respostas pessoais.
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
6. Leia a seguinte estrofe do poema “Canto de regresso à pátria”, escrito por Oswald de Andrade (18901954). O poeta pertence ao movimento literário Modernismo.
1 Minha terra tem palmares
2 Onde gorjeia o mar
3 Os passarinhos daqui
4 Não cantam como os de lá
5. a) No poema “Canção do exílio”, a idealização da natureza assume a função de expressar a saudade e o amor pela pátria. No poema “Marabá”, os elementos da natureza atribuem beleza ao eu lírico.
5. b) O nacionalismo é caracterizado como o sentimento de identificação com a história e a cultura do país de origem. O ufanismo minimiza os problemas do país e o percebe como superior em relação aos demais.
ANDRADE, 2003 apud VEREJO, Pedro. Um historicizado regresso pátrio: uma análise de “Canção de regresso à pátria”, de Oswald de Andrade. Miguilim: Revista Eletrônica do Netlli, Goiás, v. 12, n. 3, p. 24-40, set./dez. 2023. p. 26. Disponível em: http://revistas.urca.br/index.php/MigREN/article/view/833/609. Acesso em: 12 set. 2024.
a) Quais são as semelhanças entre a primeira estrofe do poema “Canto de regresso à pátria” e a primeira estrofe do poema “Canção do exílio”, abordado na questão anterior?
b) Na estrofe do poema de Oswald de Andrade, há a substituição do termo palmeiras, utilizado por Gonçalves Dias em “Canção do exílio”, pelo termo palmares. Qual é o efeito de sentido gerado por essa substituição? Em sua resposta, considere seus conhecimentos sobre o quilombo dos Palmares.
6. a) Espera-se que os estudantes reconheçam como semelhanças a estrutura do primeiro verso e a relação estabelecida entre a terra e os pássaros. Ambas as estrofes também trazem a comparação entre dois lugares: aqui e lá
6. b) O termo palmares remete à escravização e aos movimentos de resistência, enquanto o termo palmeiras faz alusão à flora do Brasil, sem um ponto de vista crítico estabelecido.
7. Resposta pessoal. Espera-se que, na elaboração do parágrafo, os estudantes considerem que o ufanismo, ao promover uma visão exageradamente positiva e idealizada do país, pode levar a uma negação dos problemas sociais, econômicos e políticos existentes, além de promover uma visão de superioridade em relação aos demais países, perpetuando preconceitos em relação às outras nações.
Paródia
O poema “Canto de regresso à pátria”, escrito por Oswald de Andrade, utiliza um tipo de intertextualidade denominado paródia . Para realizar uma paródia, o autor usa elementos de uma obra original, geralmente muito conhecida, para criar um texto. O objetivo da paródia é gerar humor e/ou apresentar um ponto de vista crítico a respeito da obra original. Entre as principais técnicas utilizadas na elaboração de uma paródia, estão o exagero, a inserção de elementos culturais que recontextualizem o texto original e a utilização de novos efeitos de sentido pela alteração das palavras. No poema “Canto de regresso à pátria”, por exemplo, é possível notar a recontextualização temática pela substituição do termo palmeiras por palmares e a mudança de efeito de sentido nos dois últimos versos da estrofe analisada. Na paródia, é importante que a influência do texto original possa ser facilmente identificada pelo leitor.

7. O pensamento ufanista não considera uma visão crítica sobre os problemas da sociedade a que se refere. Reúna-se com dois colegas e, juntos, elaborem um parágrafo reflexivo sobre as possíveis consequências desse pensamento.
8. Retome o poema “Marabá” e observe a medida de cada verso e o modo como as rimas se estruturam ao longo das estrofes.
a) Os versos têm medidas semelhantes ou diferentes? Exemplifique.
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor.
b) Observe a quantidade de versos presente em cada uma das estrofes. É possível observar uma regularidade nesse sentido? Explique.
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
c) Releia o poema em voz alta, prestando atenção na sonoridade das palavras. Em seguida, explique como a relação entre a medida dos versos e a quantidade de versos por estrofe contribui para o ritmo do poema.
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor 9. b) Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
9. Releia o poema observando como o diálogo entre Marabá e os homens indígenas se estabelece.
a) Qual sinal gráfico marca majoritariamente as falas de Marabá?
As falas de Marabá são marcadas majoritariamente pelo travessão.
b) Qual sinal gráfico marca majoritariamente as falas dos homens indígenas?
c) Em seu ponto de vista, de que forma essa diferenciação marcada pelos sinais gráficos atua para a compreensão do poema?
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor.
10. Analise o modo como as falas de Marabá e as dos homens indígenas se organizam e responda às questões a seguir.
a) Observe as falas de Marabá. Elas apresentam um tema que se repete. Em sua opinião, como tais repetições atuam na construção de sentido do poema?
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor.
b) Assim como acontece com as falas de Marabá, as falas dos homens indígenas também apresentam um tema que se repete. Nesse caso, uma frase aparece em todas as falas, com uma pequena variação. Qual é essa frase?
A frase é “mas és Marabá” / “tu és Marabá”.
c) Em seu ponto de vista, qual é o objetivo da repetição dessa fala dos homens indígenas e como essa repetição contribui para o entendimento do pensamento deles em relação à Marabá? Explique.
Respostas pessoais. Espera-se que os estudantes compreendam que a repetição da frase enfatiza a rejeição dos homens indígenas a Marabá por ela ser miscigenada.
d) Analise as falas de Marabá e as falas dos homens indígenas. Em sua opinião, como o contraste entre essas diferentes vozes contribui para a construção de sentidos do poema?
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor.
No Romantismo, o gênero poema passou por grandes mudanças em sua estrutura. Enquanto nos movimentos literários anteriores o poema apresentava métrica e esquema de rimas fixos, seguindo um rigor formal e, em alguns períodos, com uso de vocabulário rebuscado, no Romantismo, o
Nas estrofes de seis versos, as rimas se estruturam com base no seguinte padrão: a rima entre o terceiro e o sexto verso apresenta sempre a mesma sonoridade, enquanto as demais rimas variam. Observe as estrofes a seguir.

Eu vivo sozinha; ninguém me procura! A
Acaso feitura A
Não sou de Tupá! B
4 Se algum d’entre os homens de mim não se esconde, C — Tu és, me responde, C
6 — Tu és Marabá! B
11 Se algum dos guerreiros não foge a meus passos: H
12 “Teus olhos são garços, H
13 Responde anojado; mas és Marabá: B
14 “Quero antes uns olhos bem pretos, luzentes, I
15 “Uns olhos fulgentes I
16 “Bem pretos, retintos, não cor de anajá!” B
31 “Eu amo a estatura flexível, ligeira, O
32 “Como uma palmeira, O
33 “Então me responde; tu és Marabá: B
34 “Quero antes o colo da ema orgulhosa, P
35 “Que pisa vaidosa, P
36 “Que as flóreas campinas governa, onde está.” B
41 Mas eles respondem: “Teus longos cabelos, R
42 “São loiros, são belos, R
43 “Mas são anelados; tu és Marabá: B
44 “Quero antes cabelos, bem lisos, corridos, S
45 “Cabelos compridos, S
46 “Não cor d’oiro fino, nem cor d’anajá.” B
Nas estrofes de quatro versos, as rimas apresentam duas estruturas.
• Nas estrofes 2 e 4, o primeiro e o terceiro versos não rimam entre si, o segundo e o quarto versos rimam entre si – apresentam a mesma sonoridade.
7 — Meus olhos são garços, são cor das safiras, E
8 — Têm luz das estrelas, têm meigo brilhar; F
9 — Imitam as nuvens de um céu anilado, G
10 — As cores imitam das vagas do mar! F
17 — É alvo meu rosto da alvura dos lírios, J
18 — Da cor das areias batidas do mar; F
19 — As aves mais brancas, as conchas mais puras K
20 — Não têm mais alvura, não têm mais brilhar. — F
• Nas estrofes 6 e 8, o primeiro e o terceiro versos rimam entre si, o segundo e o quarto versos rimam entre si – apresentam a mesma sonoridade.
27 — Meu colo de leve se encurva engraçado, M
28 — Como hástea pendente do cáctus em flor; N
29 — Mimosa, indolente, resvalo no prado, M
30 — Como um soluçado suspiro de amor! — N
Essa estruturação faz com que o poema apresente uma musicalidade específica que se relaciona à influência da música na poesia da época. poema passou a apresentar uma estrutura menos rígida. Essa mudança se deu em razão das transformações sociais do período histórico e da busca por uma estrutura que permitisse mais liberdade. Mesmo sem estrutura rígida, os poemas românticos apresentam rimas e musicalidades características, além de estruturas que obedecem a algumas convenções. Em “Marabá”, é possível perceber que a variação de versos nas estrofes se dá por meio da repetição de um padrão de estrofes de quatro e seis versos. Além disso, a variação de rimas também obedece a um padrão específico.
37 — Meus loiros cabelos em ondas se anelam, Q
38 — O oiro mais puro não tem seu fulgor; N
39 — As brisas nos bosques de os ver se enamoram, Q
40 — De os ver tão formosos como um beija-flor! — N
11. b) Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes reconheçam que a utilização da primeira pessoa permite que o leitor se aproxime mais das emoções de Marabá, além de permitir a expressão direta dos sentimentos do eu lírico.
11. Como já observado, a construção do ritmo no poema “Marabá” contribui para a expressividade das emoções do eu lírico, a qual se intensifica pela predominância de determinada pessoa do discurso. A esse respeito, responda às questões a seguir.
a) Qual pessoa do discurso predomina no poema?

b) Em seu ponto de vista, de que forma a predominância dessa pessoa do discurso intensifica a expressão das emoções de Marabá?
c) Caso houvesse, no poema, o predomínio de outra pessoa do discurso, o efeito de sentido gerado pelo texto seria o mesmo? Explique. Primeira pessoa do discurso.
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
Subjetividade e expressividade na poesia romântica
Nos poemas do Romantismo, é muito comum o emprego da primeira pessoa pelo eu lírico. Essa escolha tem o objetivo de garantir a subjetividade no poema e valorizar a expressividade do eu lírico. Outros recursos são utilizados para promover expressividade, como a pontuação e a musicalidade.
A prosa romântica
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor.
Assim como acontece com os poemas, os textos literários em prosa publicados no início do movimento romântico também apresentam características específicas. Na época, as obras eram publicadas no formato de folhetim. Os folhetins surgiram na França do século XIX e consistiam em capítulos de romances publicados periodicamente em jornais. O formato do folhetim passou a ser utilizado também no Brasil com a chegada da imprensa e atribuiu aos romances da época características específicas, como capítulos mais curtos que normalmente terminavam com alguma tensão narrativa, pois o objetivo era fazer o leitor adquirir o próximo jornal para continuar a leitura da obra. A primeira fase da prosa romântica, assim como ocorreu na poesia, tem como característica o nacionalismo e o indianismo. Observe, a seguir, um trecho do romance Iracema , escrito por José de Alencar (1829-1877).
Além, muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema.
Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna, e mais longos que seu talhe de palmeira.
O favo da jati não era doce como seu sorriso; nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado.
Mais rápida que a corça selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo, da grande nação tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas.
Um dia, ao pino do Sol, ela repousava em um claro da floresta. Banhava-lhe o corpo a sombra da oiticica, mais fresca do que o orvalho da noite. Os ramos da acácia silvestre esparziam flores sobre os úmidos cabelos. Escondidos na folhagem os pássaros ameigavam o canto.
Iracema saiu do banho: o aljôfar d’água ainda a roreja, como à doce mangaba que corou em manhã de chuva. Enquanto repousa, empluma das penas do gará as flechas de seu arco, e concerta com o sabiá da mata, pousado no galho próximo, o canto agreste.
ALENCAR, José de. Iracema . [Brasília, DF]: Ministério da Cultura: Fundação Biblioteca Nacional: Departamento Nacional do Livro, [202-]. Reprodução do original de 1865. Localizável em: p. 4 do PDF. Disponível em: www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn000014.pdf. Acesso em: 5 ago. 2024.
No trecho, os elementos da natureza são empregados para descrever a indígena Iracema de forma idealizada, posicionando o indígena como protagonista na narrativa e exaltando as características da fauna e da flora brasileira.

Anteriormente, você leu o poema “Marabá”, escrito por Gonçalves Dias no século XIX, período em que a figura do indígena era utilizada na literatura para construir um ideal nacional. Nessa época, os costumes e as crenças dos diferentes povos indígenas não eram abordados de forma aprofundada nos textos literários. Além disso, os textos apresentavam uma visão romantizada da história do indígena brasileiro, que, muitas vezes, era retratado como aliado do povo português.
Agora, você vai ler um trecho do poema “Brasil”, da escritora indígena contemporânea
Eliane Potiguara (1950-). Em seus textos, ela procura transformar em matéria literária o ponto de vista dos indígenas sobre a história brasileira. No poema, a autora discorre especificamente sobre os desafios de ser uma mulher indígena no Brasil.
1 Que faço com a minha cara de índia?
2 E meus cabelos
3 E minhas rugas
4 E minha história
5 E meus segredos?
6 Que faço com a minha cara de índia?
7 E meus espíritos
8 E minha força
9 E meu Tupã
10 E meus círculos?
11 Que faço com a minha cara de índia?
12 E meu Toré
13 E meu sagrado
14 E meus “cabocos”
15 E minha Terra?
16 Que faço com a minha cara de índia?
17 E meu sangue
18 E minha consciência
19 E minha luta
20 E nossos filhos?
[ ] Brasil
Tupã: divindade da mitologia tupi-guarani. Toré: ritual celebrado por diversos povos indígenas em que se realiza uma dança com o mesmo nome. caboco: entidade espiritual. fecundo: produtivo, fértil. cântico: canto para uma divindade.

1. a) A temática da identidade indígena é abordada por meio de questionamentos e reflexões por parte do eu lírico sobre o reconhecimento dos elementos que constituem a sua identidade. No poema, o eu lírico busca expressar sua identidade, ao apresentar elementos de sua cultura, e ao mesmo tempo questionar a falta de aceitação dessa identidade pela sociedade
Em “Marabá”, o conflito é centrado na rejeição da indígena pelos membros de seu próprio povo por ser miscigenada e, portanto, não se enquadrar nos padrões de beleza adotados por eles. No poema “Brasil”, o conflito é mais amplo, pois envolve a marginalização e a opressão sofridas pelos povos indígenas por parte dos membros não indígenas da sociedade brasileira, a qual não reconhece seus elementos culturais identitários.
2. b) Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes percebam que essa repetição enfatiza a angústia do eu lírico diante da não aceitação das características físicas e culturais que constituem sua identidade indígena.
21 Ventre que gerou
22 O povo brasileiro
23 Hoje está só
24 A barriga da mãe fecunda
25 E os cânticos que outrora cantavam
26 Hoje são gritos de guerra
27 Contra o massacre imundo.
POTIGUARA, Eliane. Brasil. In: POTIGUARA, Eliane. Metade cara, metade máscara. 3. ed. Rio de Janeiro: Grumin Edições, 2019. p. 32-33.
Eliane Potiguara é uma importante escritora, professora, contadora de histórias e ativista indígena brasileira. É licenciada em Letras e em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e, em 2021, recebeu o título de doutora honoris causa pela mesma universidade. Foi fundadora da primeira organização de mulheres indígenas do país, o Grupo Mulher – Educação Indígena (Grumin), e participou de seminários sobre direitos indígenas na Organização das Nações Unidas (ONU). A autora é reconhecida como a primeira escritora indígena brasileira com publicações em livros. Sua principal obra, Metade cara, metade máscara , tematiza a situação do indígena no território brasileiro.
1. Responda às questões a seguir.

■ Fotografia de Elaine Potiguara, 2022, Rio de Janeiro (RJ).
a) De que forma o poema “Brasil” aborda a temática da identidade indígena? Explique.
b) O p oema “Marabá” apresenta um conflito entre o eu lírico e seu próprio povo, enquanto o poema “Brasil” trata do conflito entre o eu lírico e os não indígenas. Explique de que modo cada um desses conflitos é abordado em cada poema.
2. Anteriormente, você estudou que a estrutura do poema “Marabá” é construída por meio de algumas repetições e variações dos versos, as quais são responsáveis por criar um ritmo específico. No poema “Brasil”, também é possível encontrar uma estrutura que se constrói por meio da repetição e da variação. A esse respeito, responda às questões a seguir.
a) Qual é o verso que se repete no poema de Eliane Potiguara?
“Que faço com a minha cara de índia?”
b) Em seu ponto de vista, de que forma essa repetição contribui para a expressividade do poema?
c) Em uma das estrofes, a repetição não acontece. Qual é essa estrofe?
A repetição não acontece na última estrofe do poema.
d) Observe como, em cada estrofe onde ocorre a repetição do verso identificado no item a, os demais versos variam, apresentando sequências de elementos. Em sua opinião, qual é o efeito de sentido gerado por essa variação?
Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes percebam que essa variação tem o objetivo de destacar os diferentes elementos relacionados à cultura do povo indígena do qual o eu lírico faz parte, complexificando a identidade indígena que está sendo construída no poema.
3. a) As estruturas dos dois poemas utilizam a repetição dos versos para enfatizar os temas centrais e para criar ritmo. Contudo, o poema “Marabá” apresenta um esquema de rimas mais rígido, enquanto o poema “Brasil” tem uma estrutura mais livre.
3. Agora, observe a estrutura do poema “Brasil” como um todo, prestando atenção à métrica de cada verso, às rimas e ao modo como eles variam ou se repetem. Em seguida, compare essa estrutura com a do poema “Marabá”.
a) Quais são as semelhanças e as diferenças entre as estruturas dos dois poemas?
b) O poema “Marabá” pertence ao movimento literário Romantismo. Já o poema “Brasil” faz parte da literatura contemporânea. De que modo a forma de expressão típica de cada um desses movimentos se evidencia em cada um dos poemas?

Refrão
Em “Marabá”, é possível perceber a ênfase no conflito interno do eu lírico, em seus sentimentos e em suas emoções e a busca por uma identidade indígena idealizada como características do Romantismo. No poema “Brasil”, a abordagem de denúncia, a resistência cultural e a forma poética mais livre, além da autoria indígena, são características da literatura contemporânea.
O verso ou o grupo de versos que se repetem em um poema ou em uma canção é denominado refrão. O refrão é um elemento poético que tem como objetivo reforçar a ideia central do poema, criar ritmo pela regularidade sonora e estabelecer relação de sentido entre as partes do poema. No poema “Brasil”, o refrão ainda serve como condutor do argumento do poema, pois é com base na sua repetição que novos elementos da cultura indígena são introduzidos e complexificados.
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor
4. Reúna-se com mais dois colegas e releia o seguinte trecho do poema “Brasil” para responder às questões.
Que faço com a minha cara de índia?
E meu Toré
E meu sagrado
E meus “cabocos”
E minha Terra?
4. a) Os elementos ligados às crenças do eu lírico citados no trecho são Toré e cabocos. Eles são importantes porque marcam a identidade do povo indígena ao qual o eu lírico pertence em seu contexto de expressão cultural.
4. b) Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes percebam que tais elementos são importantes porque fazem parte da expressão da identidade do povo indígena retratada no poema, além de integrarem o sistema de crenças desse povo.
a) Identifique os elementos relacionados ao sistema de crenças adotado pelo eu lírico mencionados no trecho e explique a importância deles no contexto do poema.
b) Observe o significado das palavras Toré e cabocos, mencionadas no poema. Em sua interpretação, qual é a relevância de tais elementos para a identidade do povo indígena ao qual pertence o eu lírico?
c) Elabore, no caderno, um parágrafo discutindo a maneira como a intolerância religiosa pode impactar a prática e a preservação das tradições religiosas dos povos indígenas, refletindo sobre como a sociedade em geral pode promover respeito e aceitação das tradições desses povos.
5. Compare a expressão dos sentimentos de solidão e exclusão nos poemas “Brasil” e “Marabá”. Como esses sentimentos são articulados por meio da linguagem poética?
6. Releia a estrofe a seguir, retirada do poema “Brasil”.
A barriga da mãe fecunda
E os cânticos que outrora cantavam
Hoje são gritos de guerra
Contra o massacre imundo.
4. c) Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes reflitam sobre o modo como a intolerância religiosa ameaça a prática das tradições indígenas, pois reprime as crenças desses povos. Nesse sentido, a sociedade em geral precisa ser incentivada a valorizar a diversidade religiosa.
5. Em “Marabá”, as descrições físicas da protagonista, na busca de aceitação de sua identidade, contribuem para a expressão desses sentimentos; no poema “Brasil”, a evocação dos elementos culturais em forma de perguntas expressa o sentimento de apagamento da identidade de um povo.
a) Realize uma pesquisa sobre a situação atual dos povos indígenas no Brasil e associe o que foi pesquisado por você à última estrofe do poema.
b) Analise a transformação dos cânticos em gritos de guerra mencionada no poema. O que essa mudança simboliza em relação à situação atual dos povos indígenas no Brasil?
6. a) Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes associem os conflitos territoriais, o desmatamento, as invasões de terras indígenas e a violência praticada contra os povos indígenas em razão das disputas por território à última estrofe do poema.
6. b) Essa mudança simboliza o contraste entre os tempos de paz antes dos conflitos com os não indígenas e as constantes disputas territoriais, que já se estendem há muito tempo, em que os povos indígenas precisam oferecer resistência diante das violências sofridas por eles.
7. a) No poema “Marabá”, a protagonista se posiciona frente à exclusão praticada pelos membros do seu próprio povo, que a rejeitam por ela apresentar características físicas diferentes do padrão de beleza apreciado por eles. Nesse processo de busca por aceitação e pertencimento, ela afirma sua identidade enaltecendo os próprios atributos. O poema revela a busca de um indivíduo por aceitação dentro do seu próprio grupo.
7. Tanto no poema “Marabá” quanto no poema “Brasil”, o eu lírico feminino se apresenta para discutir e promover reflexão sobre a identidade indígena. A esse respeito, responda às questões a seguir.
a) De que modo Marabá promove a discussão sobre identidade no poema de Gonçalves Dias?
b) De que modo a mulher indígena promove reflexão sobre identidade no poema “Brasil”?
c) Agora, compare as características observadas por você nas duas figuras femininas. Quais são as semelhanças entre elas? Explique.
Ambas as personagens são mulheres indígenas que enfrentam conflitos na busca por reconhecimento de sua identidade.
d) Em seu ponto de vista, as percepções das personagens indígenas sobre si mesmas são intensificadas pelo fato de elas serem mulheres? Justifique.

Respostas pessoais. Espera-se que os estudantes compreendam que o fato de elas serem mulheres as insere em uma posição de dupla marginalização, intensificando os desafios de aceitação em ambos os casos.
Leia, a seguir, o trecho de uma notícia publicada no portal da Câmara dos Deputados
A Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira (6) projeto de lei que determina que as políticas públicas de combate à violência contra a mulher levem em consideração a situação da mulher indígena. A proposta será enviada ao Senado. Segundo o Projeto de Lei 2975/23, da deputada Juliana Cardoso (PT-SP), a política pública prevista na Lei Maria da Penha deverá levar […] [em] conta as condições e necessidades específicas das mulheres indígenas. “Não é um projeto de lei somente meu, mas construído principalmente pelo diálogo de lideranças indígenas”, afirmou a autora.
Resposta pessoal.
O objetivo da questão é incentivar os estudantes a pensar a respeito da violência contra a mulher, de forma geral, e da violência contra a mulher indígena, de forma específica, considerando as particularidades e os preconceitos sofridos por esse grupo social.
Na mesma lei, essas condições devem ser levadas em conta também quando da criação das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Deams) ou de Núcleos Investigativos de Feminicídio.
[…]
Para a autora da proposta, deputada Juliana Cardoso, é preciso criar regras específicas para essa população. “A gente precisa compreender que a relação das mulheres indígenas tem questão cultural profunda e barreiras culturais e geracionais”, disse.
A deputada Silvia Waiãpi (PL-AP) lembrou que, em casos de violência, certas autoridades não se julgam competentes e que o caso é repassado para a Funai e outros órgãos específicos, o que gera impunidade. “Quando uma mulher indígena denuncia a violência, ela tem problemas por ser indígena, esbarra em empecilhos legais ou na atuação da Funai”, afirmou.
PIOVESAN, Eduardo; SIQUEIRA, Carol. Câmara aprova projeto que inclui mulher indígena nas políticas públicas de combate à violência . Brasília, DF: Câmara dos Deputados, 6 nov. 2023. Disponível em: www.camara. leg.br/noticias/1013938-camara-aprova-projeto-que-inclui-mulher-indigena-nas-politicas-publicas-de -combate-a-violencia/. Acesso em: 3 set. 2024.
Resposta pessoal. O objetivo da questão é levar os estudantes a refletir sobre o modo como a aparência física da mulher é julgada socialmente.
• No poema “Marabá”, a mulher indígena é rejeitada pelos homens devido às suas características físicas. Discuta com os colegas os problemas que envolvem essa atitude.
• No poema “Brasil”, a rejeição da mulher indígena se dá pelo fato de ela ser indígena. Reflita sobre como a identidade indígena pode inserir as mulheres em situações de vulnerabilidade, considerando o último parágrafo da notícia lida.
• Em seu ponto de vista, criar leis e medidas específicas para o combate à violência contra a mulher indígena é socialmente importante? Explique.
Respostas pessoais. O objetivo da questão é levar os estudantes a refletir sobre a importância de políticas públicas que promovam a proteção de grupos minoritários, como as mulheres indígenas.
7. b) O eu lírico, que se apresenta como uma mulher “índia”, clama pelo reconhecimento de elementos de sua cultura por parte daqueles que não pertencem ao seu povo. Em seu clamor pelo não apagamento de sua cultura, ela assume o lugar do seu povo, tornando-se uma voz que fala pelo coletivo e reclama da marginalização e da violência sofridas pelo seu povo.
8. a) Trata-se de uma parte (o “ventre”) tomada pelo todo (a mulher) que tem ventre e que, efetivamente, gerou o povo. O sentido no poema é colocar a mulher indígena também como origem do país, representando a geração dos povos indígenas, que foram os primeiros habitantes do território. O desenvolvimento do país se deu pela exploração e dizimação desses indígenas.
8. Releia o trecho do poema “Brasil”, de Eliane Potiguara.
[ ]
Ventre que gerou
O povo brasileiro
Hoje está só...
A barriga da mãe fecunda

8. b) Os gritos de guerra são referência à condição de luta constante que os povos indígenas travam por seus direitos.
9. a) Espera-se que os estudantes retomem conhecimentos históricos que tenham sobre o período e apontem os esforços dos contatos linguísticos entre os indígenas e os portugueses por meio de expressões corporais, gestos e estabelecimento de uma língua de contato.
E os cânticos que outrora cantavam
Hoje são gritos de guerra
Contra o massacre imundo.
9. b) Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes reconheçam a relação de poder estabelecida entre os colonizadores e os povos indígenas, com subjugação dos portugueses sobre esses povos, e reconheçam também como a violência foi determinante para o extermínio dessas populações e, por consequência, de suas línguas.
a) Nos versos “Ventre que gerou / O povo brasileiro”, há ocorrência de metonímia. Explique essa afirmação e seu sentido relacionado à mulher indígena no poema.
b) O eu lírico afirma que a barriga da mãe fecunda e os cânticos hoje são gritos de guerra. Que relação é possível estabelecer entre esses versos e a condição indígena atualmente?
9. Na chegada dos portugueses às terras que hoje compõem o território brasileiro, havia grande concentração do povo tupinambá em toda faixa litorânea e do povo guarani no centro-sul do país. A barreira da língua entre o europeu recém-chegado e os povos originários logo seria vencida.
a) O processo de miscigenação explorado no poema “Marabá”, de Gonçalves Dias, esteve presente também na língua. De que forma você considera que os falantes das línguas tupi e guarani e do português europeu interagiam nos momentos de contato?
b) Considerando que, à época da colonização, existiam no Brasil mais de mil línguas indígenas diversas e que, atualmente, há cerca de 260 dessas línguas, busque uma hipótese para explicar por que a língua do colonizador prevaleceu sobre as línguas indígenas.
Língua geral Nheengatu
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor
O tupinambá, língua pertencente à família tupi-guarani, do tronco tupi, foi a língua que mais entrou em contato com os colonizadores portugueses, porque os povos dessa família estavam mais presentes na costa brasileira, aonde chegavam as embarcações. Originou-se aí a chamada língua geral nheengatu , reconhecida como a língua que está há mais tempo em contato com a língua portuguesa. Diversas palavras de origem tupi fazem parte da língua portuguesa e nomeiam fauna, flora, lugares, comidas e costumes.
10. Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
10. Para conhecer a influência da língua tupi na formação da língua portuguesa falada no Brasil, em grupos, elaborem um glossário ilustrado dessas palavras para ser apresentado à comunidade escolar.
a) Pesquisem materiais que abordem a influência da língua tupi na língua portuguesa. Como ponto de partida, indica-se o texto “Influência do tupi na língua portuguesa falada no Brasil” (disponível em: www.ufmg.br/espacodoconhecimento/influencia-do-tupi/; acesso em: 3 set. 2024).
b) Escolham duas palavras em tupi encontradas no material pesquisado e mostrem como elas se consolidaram na língua portuguesa, apresentando o seu significado.
c) Em bancos de imagem de licença aberta, selecionem imagens que ilustrem a palavra e seu significado.
d) Em um editor de texto on-line, insiram a imagem e escrevam o nome do objeto e seu significado, com linguagem objetiva e descritiva, adequada ao glossário.
e) Organizem o local de exposição ou publicação, prevendo os recursos necessários.
Na seção Estudo Literário, você analisou a representação da identidade da mulher indígena na poesia contemporânea. Agora, você vai ler uma notícia que aborda essa identidade na produção audiovisual brasileira.
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor

Respostas pessoais. Aproveite a questão e peça aos estudantes que compartilhem gostos e preferências, indicando aos colegas assuntos e criações culturais pelos quais se interessam.
Antes de iniciar a leitura do texto, responda às questões a seguir.
• Sobre quais assuntos relacionados a criações culturais você gosta de se informar? Como você costuma se informar sobre eles?
• A notícia é um gênero textual do campo jornalístico-midiático que informa sobre um fato, ou seja, sobre um acontecimento recente. Em sua opinião, quais fatos costumam virar notícia? Acontecimentos do universo artístico e cultural estão entre eles?
Respostas pessoais. O objetivo dessa questão é incentivar os estudantes a refletir sobre uma visão equivocada que muitos leitores têm de que ocorrências relacionadas à arte e à cultura não têm relevância suficiente para ser assunto de notícia.
Plataforma reúne 71 mulheres do audiovisual, de 32 etnias, e estreia neste sábado, 29.04
29/04/2023 13h40 • Atualizado há um ano
Neste sábado, 29.05, acontecerá o lançamento da primeira rede audiovisual de mulheres indígenas do Brasil, a Katahirine , em uma live no canal do Instituto Catitu no YouTube, às 19h, que terá a ministra dos Povos Indígenas Sônia Guajajara como convidada especial.
Katahirine, palavra da etnia Manchineri que significa constelação, é uma rede aberta, coletiva e composta por mulheres que atuam nas áreas do audiovisual e comunicação. Seu principal objetivo é fortalecer a luta dos povos originários por meio do cinema. A rede nasce a partir da atuação do Instituto Catitu e começa a tomar forma com um mapeamento inédito das cineastas indígenas no Brasil.

■ Kujaesaege no Encontro Mulheres Acre 2017 –Foto: Divulgação
A plataforma conta neste seu início com 71 mulheres de 32 etnias – entre elas, nomes como Graci Guarani e Olinda Wanderley Yawar Tupinambá, diretora e codiretora do projeto Falas Da Terra , da TV Globo, e Patrícia Ferreira Pará Yxapy, diretora de filmes que já participaram de festivais no Brasil e no mundo, como o Doclisboa, em Portugal, a Berlinale, na Alemanha, e o Margareth Mead Film Festival, em Nova York, nos Estados Unidos.

1. a) Sim, a notícia lida trata de um acontecimento ligado ao universo artístico cultural, pois apresenta como fato noticiado o lançamento da primeira rede de cineastas mulheres indígenas do Brasil, um acontecimento relacionado à linguagem artística audiovisual. De acordo com o cabeçalho da página eletrônica, a notícia foi publicada na seção “Cultura” da revista.
A primeira iniciativa para dar visibilidade à produção audiovisual das mulheres indígenas é o site katahirine.org.br, que será lançado neste 29 de abril. Ele funcionará como uma plataforma onde cada cineasta terá uma página com seu perfil, biografia e suas produções. Futuramente, a rede planeja promover encontros entre as realizadoras de todo o país e organizar mostras.
A rede tem um conselho com a missão de garantir a participação indígena nas tomadas de decisão, promover articulações para incidência em políticas públicas que beneficiem a produção audiovisual das mulheres indígenas , elaborar e propor às demais os critérios da curadoria das cineastas e das obras, propor debates sobre temas relevantes para o coletivo, estabelecer diretrizes para o desenvolvimento das atividades da rede.
O conselho é formado majoritariamente por mulheres cineastas e pesquisadoras indígenas de diferentes etnias. Dele participam atualmente as cineastas indígenas Graciela Guarani, da etnia Guarani Kaiowá, Patrícia Ferreira Pará Yxapy, da etnia Mbyá-Guarani, Olinda Wanderley Yawar Tupinambá, da etnia Tupinambá/Pataxó Hã-Hã-Hãe e Vanúzia Bomfim Vieira, do povo Pataxó. Fazem parte também Mari Corrêa, cineasta e diretora do Instituto Catitu, Sophia Pinheiro, artista visual e cineasta e a jornalista Helena Corezomaé, jornalista da etnia Balatiponé.
KATAHIRINE: primeira rede de cineastas mulheres indígenas do Brasil. Vogue, [s l.], 29 abr. 2023. Disponível em: https://vogue. globo.com/cultura/noticia/2023/04/katahirine-primeira-rede-de-cineastas-mulheres-indigenas-do-brasil.ghtml. Acesso em: 3 set. 2024.
2. d) Katahirine, nome dado à rede, significa “constelação”, que é um conjunto de estrelas agrupadas tal como é possível ver da Terra. O agrupamento de mulheres indígenas cineastas é, metaforicamente, uma reunião de estrelas.
1. A notícia foi publicada no portal de internet da revista Vogue. Leia, a seguir, o cabeçalho da página.
2. c) A primeira ação da rede foi fazer um mapeamento inédito das cineastas indígenas no Brasil.
a) Após ler o texto e observar o cabeçalho, é possível afirmar que se trata de uma notícia relacionada ao universo artístico e cultural? Justifique a sua resposta apontando o fato principal noticiado.
b) A sua resposta para a segunda questão do boxe Primeiro olhar mudou após essa análise? Por quê?
2. Releia o segundo parágrafo da notícia “Katahirine: primeira rede de cineastas mulheres indígenas do Brasil” para responder às questões a seguir.
1. b) Respostas pessoais. Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor.
a) Qual é o nome da primeira rede de cineastas mulheres indígenas lançada no Brasil e qual é o seu significado?
Katahirine, palavra do povo manchineri que significa “constelação”.
b) Qual é o objetivo da rede?
c) Para cumprir esse objetivo, qual foi a primeira ação tomada pela rede?
3. b) Na linha fina e no quarto parágrafo, a data de lançamento é indicada como final de abril (29.04); já no primeiro parágrafo (lide), indica-se final de maio (29.05).
d) De que maneira o objetivo e a primeira ação da rede reforçam o nome dado a ela?
3. Individualmente, retome a leitura da notícia.
3. c) Essa incoerência pode impedir que o leitor acesse o evento na data correta, atrapalhando o objetivo da notícia, que é justamente divulgar o evento.
a) Qual é o objetivo principal da notícia lida? Copie, no caderno, a afirmativa correta.
I. Apresentar informações sobre o lançamento da primeira rede de cineastas mulheres indígenas do Brasil, oferecendo data, horário e local em que o evento pode ser acessado.
II. Apresentar informações sobre o lançamento da primeira rede de cineastas mulheres indígenas do Brasil, oferecendo o nome da convidada especial do evento.
b) Na linha fina e no corpo da notícia, ocorre uma incoerência na informação. Identifique-a.
c) De que maneira essa incoerência pode atrapalhar o objetivo da notícia?
2. b) Fortalecer a luta dos povos originários por meio do cinema.
d) Pesquise a data do lançamento da rede. Como você chegou a essa data e que mecanismos de checagem utilizou?
Resposta pessoal. O lançamento da rede Katahirine ocorreu no dia 29 de abril de 2023. Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
3. a) Resposta: item I. Espera-se que os estudantes percebam que a informação dada no item II é complementar, enquanto as informações constantes do item I são essenciais para que o leitor tenha acesso ao evento que está sendo divulgado. Distinguir as informações mais importantes das complementares é uma habilidade importante na análise de uma notícia.
4. b) Resposta: afirmativa II. Espera-se que os estudantes percebam que não houve uma pesquisa científica para chegar a esses números, que provavelmente foram cedidos pela rede Katahirine ou pelo Instituto Catitu.
4. c) Porque, entre as 71 mulheres, esses são nomes de cineastas que já possuem uma carreira reconhecida na área, tendo participado de importantes produções audiovisuais, concedendo, assim, credibilidade à iniciativa divulgada.
4. Releia o terceiro parágrafo da notícia.
A plataforma conta neste seu início com 71 mulheres de 32 etnias – entre elas, nomes como Graci Guarani e Olinda Wanderley Yawar Tupinambá, diretora e codiretora do projeto Falas Da Terra, da TV Globo, e Patrícia Ferreira Pará Yxapy, diretora de filmes que já participaram de festivais no Brasil e no mundo, como o Doclisboa, em Portugal, a Berlinale, na Alemanha, e o Margareth Mead Film Festival, em Nova York, nos Estados Unidos.
a) Copie o quadro a seguir no caderno para, em seguida, indicar as informações referentes a números e nomes que aparecem no trecho.

Números
Nomes

Números: 71 mulheres, 32 etnias.
Nomes: Graci Guarani, Olinda Wanderley Yawar Tupinambá, Patrícia Ferreira Pará Yxapy.
b) Por que a notícia destaca esses números? Copie a afirmativa correta no caderno.
I. Para contabilizar as etnias presentes na iniciativa, divulgando os dados científicos pesquisados ao longo da escrita da notícia.
II. Para enfatizar o sucesso da iniciativa, mostrando a diversidade de etnias e a quantidade de mulheres envolvidas.
c) Por que a notícia destaca os nomes de algumas cineastas, assim como as produções das quais participaram?
. “garantir a participação indígena nas tomadas de
“promover articulações para incidência em políticas públicas que beneficiem a produção audiovisual das mulheres
“elaborar e propor às demais os critérios da curadoria das cineastas e das obras”;
“propor debates sobre temas relevantes para o coletivo”;
“estabelecer diretrizes para o desenvolvimento das atividades da rede”.

■ Há 14 anos, o Instituto Catitu, que promoveu a realização da rede Katahirine, oferece formação audiovisual em comunidades indígenas.
5. O penúltimo parágrafo da notícia apresenta ao leitor a missão do conselho da rede Katahirine.
a) Faça uma lista dos itens que compõem essa missão.
b) Em sua opinião, qual é o item mais importante dessa lista. Por quê? Compartilhe suas impressões com os colegas.
Respostas pessoais. Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
c) Qual item você acrescentaria nessa lista?
Resposta pessoal. Sugestões de resposta: propor projetos de resgate de memórias históricas indígenas; propor projetos para angariar recursos para produções audiovisuais etc.
6. Agora, retome a leitura do título da notícia.
6. a) Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes reconheçam que o fato de ser a primeira rede do tipo no país é o que concede ao fato noticiado um grau de importância, novidade e ineditismo, características bastante importantes para decidir se um fato merece ser noticiado.
Katahirine: primeira rede de cineastas mulheres indígenas do Brasil
a) Com base na leitura do título, levante uma hipótese: por que a rede Katahirine mereceu o destaque de se tornar notícia?
b) Qual(is) palavra(s) do título justifica(m) a sua resposta para a questão anterior? A palavra primeira.
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor.

Título da notícia
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor
Uma importante característica do gênero textual notícia é a concisão que o seu texto apresenta. A obrigação de um texto enxuto relacionada ao seu caráter informativo faz com que todas as partes da notícia apresentem um conteúdo importante. O título, por exemplo, é um espaço privilegiado, no qual o aspecto principal do fato noticiado ou a síntese do que se pretende informar costuma receber destaque.
7. A seguir, leia o trecho do Manual de redação do jornal Folha de S.Paulo que explicita as características do título de uma notícia. Depois, responda às questões.
[…] A maioria dos leitores de um jornal lê apenas o título da maior parte dos textos editados. Por isso, ele é de alta importância. Ou o título é tudo que o leitor vai ler sobre o assunto ou é o fator que vai motivá-lo ou não a enfrentar o texto. […]
[ ]
O título deve ser uma síntese precisa da informação mais importante do texto. Sempre deve procurar o aspecto mais específico do assunto, não o mais geral: Banco Mundial propõe ensino pago em vez de Banco Mundial discute problemas educacionais.
Em seus títulos, a Folha :
a) Não usa ponto, dois-pontos, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, travessão ou parênteses;
b) Evita ponto e vírgula;
c) Jamais divide sílabas em duas linhas e evita fazer o mesmo com nomes próprios de mais de uma palavra;
d) Preenche todo o espaço destinado ao título no diagrama;
e) Evita a reprodução literal das palavras iniciais do texto.
Nos textos noticiosos, o título deve, em geral:
a) Conter verbo, de preferência na voz ativa;
b) Estar no tempo presente, exceto quando o texto se referir a fatos distantes no futuro ou no passado;
c) Empregar siglas com comedimento.
Para editoriais e textos opinativos, a Folha pode usar frases nominais em títulos: Rombo na Previdência.
EDIÇÃO. In: NOVO Manual da Redação. São Paulo: Folha de S.Paulo, [2001]. Disponível em: www1.folha.uol.com.br/folha/circulo/manual_edicao_t.htm. Acesso em: 3 set. 2024.
a) De acordo com o Novo Manual da Redação da Folha de S. Paulo, a importância do título está ligada ao leitor. Por quê?
De acordo com o manual, o título é importante porque ou é tudo o que o leitor lerá sobre o assunto (o que acontece com a maioria) ou representa o fator que vai motivá-lo a ler o texto completo da notícia.

b) O manual apresenta dois exemplos de título.
I. Banco Mundial propõe ensino pago
II. Banco Mundial discute problemas educacionais
• Qual título é indicado como o mais adequado? Por quê?
O título I. Porque ele apresenta um aspecto mais específico do fato (propor ensino pago é mais específico do que discutir problemas educacionais), formulando uma síntese precisa.
c) O manual aponta cinco critérios que devem ser respeitados na composição de títulos dos textos publicados no jornal Folha de S.Paulo e apresenta três critérios que devem ser respeitados na composição dos títulos de textos noticiosos. Observe o título da notícia “Katahirine: primeira rede de cineastas mulheres indígenas do Brasil”, copie o quadro a seguir no caderno e faça a checagem de quais critérios foram atendidos na composição desse título.
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor.
Não usar pontuação. X
Evitar ponto e vírgula. X
Não dividir sílabas. X
Preencher todo o espaço na diagramação. X
Evitar reprodução literal das palavras iniciais do texto. X
Conter verbo. X
Estar no presente. X

Empregar siglas com comedimento. X

Este item se refere a publicações no jornal impresso.
d) Agora, reescreva, no caderno, o título da notícia publicada no portal da revista Vogue de maneira a respeitar todos os critérios listados no Manual da redação da Folha de S.Paulo. Compartilhe o seu título com os colegas.
Sugestão de resposta: Primeira rede de cineastas mulheres indígenas do Brasil é lançada.
8. A frase ou o período que aparece abaixo do título da notícia e funciona como um subtítulo é chamada de linha fina. Ela costuma ser grafada com caracteres menores que os do título e maiores que os do texto.
a) Copie a linha fina da notícia publicada no portal da revista Vogue
“Plataforma reúne 71 mulheres do audiovisual, de 32 etnias, e estreia neste sábado, 29.04”
b) A linha fina tem duas funções importantes: complementar o sentido do título e oferecer ao leitor novas informações. Uma linha fina bem escrita precisa cumprir pelo menos uma dessas funções. Isso ocorre na linha fina da notícia lida? Justifique a sua resposta.
Sim. A linha fina complementa o sentido do título apresentando novas informações sobre a rede Katahirine: o número de mulheres e suas etnias bem como a data de estreia.

9.
9. c) Respostas pessoais. Espera-se que os estudantes percebam que, de fato, não há uma resposta possível para a pergunta “Quem?”. É importante que a turma compreenda que a indicação de questões fundamentais no lide é uma prática respeitada da escrita jornalística, mas não precisa ser seguida à risca se não houver necessidade ou se isso for prejudicar a objetividade e a coerência do texto.
O primeiro parágrafo de uma notícia é conhecido como lide, palavra que se origina do termo da língua inglesa lead, que significa “conduzir”. De fato, é o lide que conduz o leitor ao conhecimento do acontecimento divulgado, como é possível compreender na explicação do Manual de redação do jornal Estadão.
O lead é a abertura da matéria. Nos textos noticiosos, deve incluir, em duas ou três frases, as informações essenciais que transmitam ao leitor um resumo completo do fato. Precisa sempre responder às questões fundamentais do jornalismo: o que, quem, quando, onde, como e por quê.
ESCLAREÇA as suas dúvidas: leads In: MANUAL de redação. São Paulo: Estadão, c2007-2024. Disponível em: www.estadao.com.br/manualredacao/esclareca/leads. Acesso em: 3 set. 2024.
a) Copie o quadro a seguir no caderno para verificar quais questões fundamentais do jornalismo são respondidas no lide da notícia “Katahirine: primeira rede de cineastas mulheres indígenas do Brasil”.
Neste sábado, 29.05, acontecerá o lançamento da primeira rede audiovisual de mulheres indígenas do Brasil, a Katahirine , em uma live no canal do Instituto Catitu no YouTube, às 19h, que terá a ministra dos Povos Indígenas Sônia Guajajara como convidada especial.
O quê?
(acontecimento principal)
Quem?
Quando?
Chame a atenção dos estudantes para o fato de que, por se tratar de um evento que acontecerá em uma plataforma digital, a resposta para “Onde?” e “Como?” pode ser a mesma.
Onde?
Como?
Por quê?

b) Quais questões fundamentais não são respondidas no lide?
Lançamento da primeira rede audiovisual de mulheres indígenas do Brasil, a Katahirine.
29.05 às 19 h Apontar novamente para a turma o erro de informação sobre a data cometido no corpo da notícia.
Em uma live no canal do Instituto Catitu no YouTube.
d) As questões fundamentais que não estão respondidas no lide são respondidas ao longo do corpo da notícia? Explique a sua resposta e indique um trecho para comprová-la. “Quem?” e “Por quê?”.
c) Considerando o contexto da publicação, você sentiu falta da resposta para alguma questão fundamental? Por quê?
Pirâmide invertida
Lide Corpo de notícia (informações em ordem decrescente)
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor
Apenas a questão “Por quê” é respondida, em trechos nos quais a importância do lançamento da rede Katahirine é explicitada. Por exemplo: “Seu principal objetivo é fortalecer a luta dos povos originários por meio do cinema”.
A pirâmide invertida é uma técnica da escrita jornalística ligada diretamente à estrutura do texto e à hierarquização das informações dentro dele. Utilizado especialmente na redação de notícias, esse recurso de escrita privilegia a disposição das informações no texto em ordem decrescente de importância, ou seja, as mais importantes são utilizadas no início, enquanto as de menor relevância aparecem na sequência; os detalhes, que podem ser até mesmo considerados descartáveis, são apresentados somente ao final. A técnica da pirâmide invertida foi muito utilizada durante a Primeira Guerra Mundial, quando os jornais da época sentiram a necessidade de relatar os acontecimentos da maneira mais clara e objetiva possível. Ao longo dos anos, as necessidades se alteraram, e o olhar para um leitor que não deseja perder tempo substituiu as preocupações dos jornalistas de guerra. Ainda que os fins sejam diferentes, a estratégia continua centrada na pirâmide.
10. b) Uma notícia que respeita a técnica da pirâmide invertida é elaborada de maneira que as informações menos importantes sejam apresentadas ao final, normalmente detalhes que, se cortados, não impedirão a compreensão do texto.
10. c) Sim, pois apresenta apenas detalhes sobre o conselho da rede Katahirine, como os nomes das integrantes. As informações sobre o conselho, apresentadas no parágrafo anterior, já podem ser consideradas menos relevantes para a notícia.
10. Leia novamente a notícia “Katahirine: primeira rede de cineastas mulheres indígenas do Brasil”. a) Resuma, em uma frase, cada parte da notícia disponibilizada no quadro a seguir com as informações apresentadas no texto.
1. Título e linha fina 2. Lide 3. Corpo da notícia 4. Detalhes

b) Jargão é um termo específico do vocabulário de determinado grupo sociocultural, como os grupos profissionais, que utilizam termos e expressões restritas a seu contexto. No meio jornalístico, um exemplo de jargão é “cortar o texto pelo pé”, que significa cortar o final do texto, normalmente o último parágrafo. Essa prática é mais usual em veículos impressos, nos quais cada texto precisa ocupar determinado espaço na diagramação. De que maneira a prática da pirâmide invertida facilita esse corte quando necessário?
c) Retome o último parágrafo da notícia lida. Ele poderia ser “cortado pelo pé” se necessário? Por quê?
Gênero textual notícia
A notícia é um texto jornalístico, cuja função é informar sobre um acontecimento real e atual. Como todo gênero textual, ela normalmente carrega em si diferentes tipos textuais, em especial o descritivo e o narrativo. A sua composição conta com partes claramente identificáveis, como: título, linha fina e lide. O corpo do texto, por sua vez, costuma ser organizado de maneira que as informações mais relevantes sejam apresentadas primeiro, respeitando a estratégia da pirâmide invertida.
11. O gênero textual notícia é normalmente composto da linguagem verbal, representada pelo texto escrito, e pela linguagem não verbal, representada por uma imagem relacionada ao fato divulgado. Observe a seguir a fotografia apresentada na notícia.
Sugestões de resposta:
Título e linha fina apresentam o acontecimento principal (lançamento da Katahirine), número de mulheres e etnias e data do evento.
Lide apresenta respostas para as seguintes perguntas fundamentais: “O quê?”, “Quando?”, “Onde?” e “Como?”.
O corpo da notícia apresenta a explicação do nome da rede e de seu principal objetivo (2º parágrafo); as integrantes mais conhecidas parágrafo); a primeira iniciativa parágrafo); a função do º parágrafo).
O último parágrafo apresenta detalhes do conselho, em especial o nome das integrantes.

a) Descreva a situação apresentada na imagem.
11. a) No primeiro plano da fotografia, uma mulher indígena maneja uma câmera de filmagem audiovisual. Ela está em um ambiente que lembra uma sala de aula ocupada por mulheres, em sua maioria, indígenas.
■ Kujaesaege no Encontro Mulheres
Acre 2017 – Foto: Divulgação
b) De que maneira a fotografia apresentada se relaciona com o conteúdo verbal da notícia?
AMPLIAR
Valor-notícia
O texto verbal da notícia informa sobre o lançamento da primeira rede audiovisual de mulheres indígenas do Brasil, a Katahirine. A imagem, por sua vez, apresenta uma mulher indígena produzindo um conteúdo audiovisual.
No universo jornalístico, o termo valor-notícia representa alguns critérios capazes de indicar a importância de um acontecimento, ou seja, o quanto ele merece se tornar notícia. Tais critérios – também conhecidos como critérios de noticiabilidade – podem se alterar a depender do veículo jornalístico.
12. Observe a seguir os critérios de valor-notícia estipulados pela Secretaria de Comunicação Social do Senado Federal (Secom).
Valor-notícia
Critérios para a importância da notícia:
1. ineditismo (+ inédito = + importante);
2. probabilidade (- provável);
3. interesse (+ pessoas afetadas);
4. apelo (+ curiosidade);

5. empatia (+ pessoas que se identificam);
6. proximidade (+ proximidade geográfica).
12. a) Sugestões de respostas:
1. Quanto mais inédito for o fato, mais importante e noticiável ele se torna.
2. Quanto menos provável for o fato, mais noticiável ele se torna.
3. Quanto mais leitores se interessarem pelo fato, mais noticiável ele se torna.
4. Quanto mais apelo, ou seja, curiosidade o fato gerar, mais noticiável ele se torna.
5. Quanto maior a probabilidade de os leitores se identificarem com o fato, mais noticiável ele se torna.
6. Quanto maior a proximidade geográfica com o fato, mais noticiável ele se torna.
VALOR-NOTÍCIA. In: MANUAL de Comunicação da Secom. Brasília, DF: Senado Federal, [2024]. Disponível em: www12.senado.leg.br/manualde comunicacao/glossario/valor-noticia. Acesso em: 3 set. 2024.
a) Com suas palavras, explique cada critério enumerado anteriormente.
b) Considerando os critérios apontados pela Secom do Senado, quais deles podem ser apontados como válidos para a notícia “Katahirine: primeira rede de cineastas mulheres indígenas do Brasil”?
São válidos os critérios 1, 2 e 4.
13. Observe, a seguir, o título, a linha fina e o lide de uma notícia sobre o mesmo acontecimento divulgado por outro veículo: o portal jornalístico Campo Grande News.
Fazendo um mapeamento, a rede tem como objetivo fortalecer a luta dos povos indígenas através do cinema
Neste sábado (29), foi lançada a primeira rede audiovisual de mulheres indígenas do Brasil. Entre as 71 mulheres de 32 etnias, Mato Grosso do Sul é representado por Graci Guarani, natural da aldeia Jaguapiru e da etnia Guarani Kaiowá.
ALVES, Aletheya. Sul-mato-grossense integra 1a rede de mulheres indígenas cineastas. Campo Grande News, Campo Grande, 1 maio 2023. Disponível em: www. campograndenews.com.br/lado-b/artes-23-08-2011-08/sul-mato-grossense-integra-1a -rede-de-mulheres-indigenas-cineastas. Acesso em: 3 set. 2024.
a) Compare o título dessa notícia com o da primeira notícia lida: “Katahirine: primeira rede de cineastas mulheres indígenas do Brasil”. Entre os dois títulos, há uma diferença de perspectiva por causa de um recorte diferente do fato. Explique-a.
b) Considerando o veículo que publicou a segunda notícia, o Campo Grande News, levante uma hipótese para a questão: por que essa mudança de perspectiva ocorre?
c) Considerando os critérios indicados no texto da Secom do Senado no item anterior, quais podem ser apontados como válidos para essa notícia? Os critérios 1, 3, 5 e 6.
13. b) Essa mudança de perspectiva ocorre provavelmente porque o portal do Campo Grande News é primeiramente dirigido a leitores do Mato Grosso do Sul, que se identificariam mais com a proximidade da cineasta Graci Guarani, também sul-mato-grossense.
13. a) No título da Vogue, o foco está no coletivo de mulheres indígenas cineastas; enquanto, no título do portal do Campo Grande News, o foco é na cineasta sul-mato-grossense que integra a rede.
AMPLIAR
O valor-notícia e o público-alvo
Os textos jornalísticos são elaborados visando atender a um público-alvo. Por isso, os critérios adotados ao se pensar no valor-notícia são alterados a depender do veículo de comunicação e do público ao qual ele atende. Da mesma maneira, a curadoria de informações e a escolha daquelas que merecem ser evidenciadas perpassam por uma escolha institucional que normalmente leva em consideração os interesses da empresa jornalística e de seu público.
14. Estão corretas as alternativas I, II e III.
Em relação à alternativa IV, explique aos estudantes que a escolha de palavras que explicitam certo posicionamento da equipe editorial da revista impede que a notícia seja imparcial.
14. Releia este trecho da notícia e copie, no caderno, as afirmações corretas em relação a ele.
Katahirine, palavra da etnia Manchineri que significa constelação, é uma rede aberta, coletiva e composta por mulheres que atuam nas áreas do audiovisual e comunicação. Seu principal objetivo é fortalecer a luta dos povos originários por meio do cinema. A rede nasce a partir da atuação do Instituto Catitu e começa a tomar forma com um mapeamento inédito das cineastas indígenas no Brasil .

I. O emprego da palavra luta para se referir aos povos originários explicita um reconhecimento do editorial da revista em relação ao contexto vivido pelos indígenas atualmente.
II. O uso da expressão povos originários em vez de povos indígenas tem relação com uma escolha editorial por destacar os indígenas como os primeiros habitantes do país.
III. A construção mapeamento inédito das cineastas indígenas evidencia a preocupação editorial em destacar o ineditismo da iniciativa das mulheres indígenas.
IV. Todos os trechos destacados nos itens anteriores desvelam escolhas editoriais propositais que demarcam posicionamentos em relação ao tema noticiado, o que torna essa notícia isenta de pontos de vista.
15. Ainda em relação ao trecho anterior, copie, no caderno, a afirmação correta em relação aos recursos linguísticos utilizados no texto e seu efeito de sentido.
A afirmação correta é a II. Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
I. Iniciar o texto com o nome da rede impessoaliza o conteúdo da notícia, porque deixa de evidenciar as cineastas responsáveis por essa rede.
II. O uso de construções do tipo é uma rede aberta, é fortalecer, e A rede nasce impessoaliza o texto porque tira o foco do enunciador e o coloca no objeto noticiado.
III. O uso da expressão começa a tomar forma pessoaliza o texto porque usa um juízo de valor do observador perante o objeto a que faz referência, o Instituto Catitu.
Impessoalidade na notícia
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor.
Por terem um propósito informacional, as notícias devem ser impessoais , ou seja, devem ser construídas com recursos linguísticos que minimizem a presença do enunciador, tornando o texto mais objetivo.
16. Releia o título e a linha fina da notícia.
16. a) Os dois-pontos estabelecem conexão entre o nome da rede e a descrição fornecida, introduzindo um aspecto que identifica e caracteriza a rede.
Plataforma reúne 71 mulheres do audiovisual, de 32 etnias, e estreia neste sábado, 29.04
a) Qual é a função dos dois-pontos após o nome da rede de cineastas?
b) Considerando o propósito da notícia, por que esse recurso de pontuação foi utilizado?
Para destacar o nome da rede de cineastas.
c) Na linha fina, não há artigo iniciando a frase. Explique o efeito de sentido dessa ausência, considerando a função do artigo.
No gênero textual notícia, busca-se a concisão na elaboração do texto, a fim de dar destaque às palavras-chave e levar o leitor à compreensão da informação com maior facilidade. Procura-se omitir o artigo na manchete e na linha fina com essa finalidade.

Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor.
Embora algumas empresas de mídia foquem de modo ativo em seu objetivo comercial, as produções dentro do campo jornalístico-midiático têm como principal função a de informar. Para atender a esse objetivo, os veículos de informação procuram aprimorar meios de alcance do público-alvo. Com foco no engajamento de um público leitor cada vez maior, as empresas midiáticas buscam constante desenvolvimento e se adaptam a novas formas de produzir conteúdo informativo, acompanhando as linguagens e tecnologias recentes. É nesse cenário que surge e se desenvolve o jornalismo digital e, junto a ele, um novo gênero digital multimodal: o web story.
A seguir, observe os frames extraídos de um web story sobre a medicina tradicional dos povos macuxi e wapichana.
O gênero textual web story
Web story é um gênero textual desenvolvido no ambiente digital que pode ser composto de diversas linguagens : vídeo, imagem, áudio, texto verbal, animação, links incorporados, entre outras; constituindo, portanto, um texto multimodal. A experiência de leitura que ele cria para o usuário é imersiva e interativa. No meio jornalístico, os web stories costumam ser utilizados para fazer resumo de notícias e reportagens ou até mesmo adiantar uma informação apresentada nelas, de maneira a atrair a atenção do leitor.
É importante saber diferenciar os web stories dos stories compartilhados em redes sociais. As principais distinções se dão na veiculação e finalidade de cada um. Enquanto os stories são veiculados nas redes sociais e ficam disponibilizados por 24 horas, os web stories com notícias e reportagens, por exemplo, podem ser encontrados em jornais e revistas digitais.









CONSELHO Indígena de Roraima. Comunicadores do CIR produzem web stories sobre vida nas comunidades e movimento indígena. [Boa Vista]: CIR, 2021. Localizável em: Web stories – Região Raposa. Tema: Medicina Tradicional na pandemia. Disponível em: https://cir. org.br/site/2021/08/09/ comunicadores-do -cir-produzem-web -stories-sobre-vida -nas-comunidades-e -movimento-indigena/. Acesso em: 5 out. 2024.
1. O web story que você leu possui função informativa. Com base nessa observação, responda às questões a seguir.
a) Qual é o tema da informação que o web story fornece ao leitor?
b) Em que momento esse tema é apresentado pela primeira vez?
O tema é a medicina tradicional dos povos macuxi e wapichana.
É apresentado logo no título.
c) Após essa primeira apresentação, de que maneira esse tema é aprofundado nas outras páginas do web story?
Nas outras páginas, são apresentadas algumas fases da produção de medicamentos realizada por mulheres.

As características do gênero textual web story
Um web story bem produzido precisa desenvolver uma narrativa coerente e concisa do que se pretende relatar ou informar. A leitura do conteúdo deve ser leve e facilitada por um diálogo bem amarrado entre as linguagens verbal e não verbal. A consistência na identidade visual é outro fator importante.
2. O web story que você leu é composto de dois recursos de linguagem: um recurso de linguagem verbal – o texto escrito – e um recurso de linguagem não verbal – as fotografias.
a) Em sua opinião, esses recursos são suficientes para o leitor compreender a informação apresentada?
Resposta pessoal.
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
b) Em sua opinião, no web story, poderiam ter sido utilizados outros recursos para maior engajamento do usuário?
Resposta pessoal.
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor.
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor
Na cultura do povo indígena manchineri – que vive na fronteira do Acre com Bolívia e Peru –, um cuidado especial é dedicado às mulheres em um período marcante de sua vida, a primeira menstruação. Nesse período, a menina deve ficar deitada na rede, sem levantar, recebendo cuidados de uma tia ou da avó, que a alimenta com um mingau de banana-verde, o único alimento que ela pode consumir durante essa fase. Terminado o resguardo, a menina recebe um banho de folhas que irá impedir que ela seja perseguida pelos animais da mata. Após esse banho, ela recebe a pintura corporal e o corte de cabelo. O encerramento desse rito ocorre com a chamada festa da pintura, quando se consome a caiçuma de mandioca, uma bebida fermentada típica da culinária de povos indígenas da Amazônia.
Esse rito ancestral reflete um cuidado dispensado a mulheres e validado por todos os membros do povo manchineri por meio de uma celebração que faz parte de uma tradição transmitida de geração a geração.
Apenas recentemente, o governo federal instituiu um programa que contempla um aspecto dos cuidados de saúde que devem ser oferecidos às mulheres em período menstrual.
No ano de 2023, o Governo Federal do Brasil criou o Programa Dignidade Menstrual, uma iniciativa para promover a conscientização sobre a naturalidade do ciclo menstrual e a oferta gratuita de absorventes higiênicos. As mulheres beneficiadas pela iniciativa estão entre 10 e 49 anos de idade, precisam atender a condições específicas e podem ter acesso aos absorventes gratuitos pelo SUS. Para mais informações, é possível acessar a página do programa no portal do governo (disponível em: www.gov.br/saude/pt-br/ campanhas-da-saude/2024/dignidade-menstrual; acesso em: 3 set. 2024).
A seguir, leia um trecho do Guia de Implementação do Programa Dignidade Menstrual, lançado em 2023 pelo Governo Federal.

A menstruação ocorre com metade da população do planeta, mas ainda é cercada por tabus, mitos e desinformação. A ausência de diálogo e conhecimento, os preconceitos, a precariedade no acesso a absorventes e outros itens de higiene –tudo isso gera estigma e exclusão social. Dessa forma, as pessoas mais vulneráveis têm direitos violados, limitações à sua liberdade e prejuízos à saúde física e mental. Dados revelam a urgência de se enfrentar esse problema:
• Pesquisas mostram que 1 em cada 4 meninas falta à escola no Brasil durante a menstruação, o que traz prejuízos à sua aprendizagem.
• C erca de 4 milhões de meninas sofrem com pelo menos uma privação de higiene nas escolas (acesso a absorventes e instalações básicas tais como banheiros e sabonetes).
• Apenas 20% das alunas sentiam-se bem informadas na ocasião da primeira menstruação, que geralmente ocorre entre 10 e 13 anos de idade. Essa falta de informação, aliada aos preconceitos e à carência no acesso a itens de higiene pessoal, gera desconforto, constrangimento e até bullying, o que exclui as meninas de diversas atividades cotidianas.
• A ONU estima em pelo menos 500 milhões o número global de meninas e mulheres que não dispõem de instalações para ter higiene menstrual adequada.
• Pessoas mais pobres têm mais chances de perder dias de trabalho por causa da menstruação. Entre jovens de 14 a 24 anos, 32% declararam que já aconteceu de não terem dinheiro para comprar absorvente.
• No Brasil, as mulheres que estão entre os 5% mais pobres da população precisam trabalhar até 4 anos só para custear os absorventes que usarão ao longo da vida.
• Segundo a UNICEF, muitas pessoas utilizam materiais impróprios para absorver o sangue menstrual, como panos sujos e jornais – o que pode resultar em doenças e infecções urogenitais, câncer de colo de útero ou Síndrome do Choque Tóxico. No Brasil, 33% das mulheres já usaram papel higiênico no lugar do absorvente.
BRASIL. Ministério da Saúde. Programa Dignidade Menstrual: um ciclo de respeito: guia de implementação. Brasília, DF: MS, 2024. p. 4-5. Disponível em: www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/ cartilhas/2024/dignidademenstrual. Acesso em: 3 set. 2024.
Respostas pessoais. Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
• Você já tinha ouvido falar na expressão dignidade menstrual? Após a leitura do texto, compartilhe com os colegas as suas impressões sobre o seu significado.
• Em sua opinião, a maneira como a cultura manchineri se dedica à primeira menstruação das mulheres é cuidadosa? Por quê?
Respostas pessoais.
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
• A cultura a qual você pertence trata a menstruação como fenômeno natural que deve ser respeitado e cuidado? Se não, de que maneira você pode atuar para que isso melhore?
Respostas pessoais.
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
O estabelecimento de uma língua em uma sociedade, qualquer que seja o tamanho desse grupo social, decorre de processos históricos e sociais que ocorrem ao longo do tempo.

O colonizador europeu, especificamente os portugueses em terras brasileiras, no exercício de dominação próprio do processo de colonização, impôs sua língua e seus costumes. No entanto, nesse encontro de civilizações distintas, os naturais da terra, notadamente os indígenas habitantes do vasto litoral brasileiro, não deixaram de imprimir fortes marcas na língua que se desenvolveu no território. De maneira marcante, também os povos africanos escravizados agregaram vocábulos e expressões à língua que aos poucos se consolidava.
Uma língua viva não é estanque, seu processo de desenvolvimento é dinâmico e contínuo, ocorrendo de forma mais lenta ou mais rápida a depender do processo histórico-social que atravessa. Assim, diversos fluxos migratórios ocorridos ao longo do tempo trouxeram falantes de várias outras línguas que contribuíram com sua cultura e agregaram novos vocábulos e expressões à variante brasileira da língua portuguesa.
Alguns dos aspectos de formação e transformação de uma língua serão objeto de estudo nesta seção.
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor.
Uma língua torna-se oficial em um país por razões prioritariamente políticas e de exercício de poder.
Ao se considerar a história de formação da variedade brasileira da língua portuguesa, é possível constatar o desaparecimento de muitas línguas dos povos originários, que decorre do processo de colonização e da adoção da língua portuguesa como idioma obrigatório no então Brasil Colônia, por meio de determinação legal editada em 1755 pelo rei D. José I e implementada em 1757 por Marquês de Pombal, ministro de estado de Portugal à época.
A atual Constituição Federal, promulgada em 1988, ratificou a língua portuguesa como língua oficial do Brasil.
Graus de ameaça de extinção linguística
Para classificar a ameaça de extinção de uma língua, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) propõe uma gradação em cinco níveis de gravidade, que se relacionam à possibilidade de transmissão entre seus falantes: vulnerável – as crianças falam a língua, porém em contextos particulares, como dentro de casa; definitivamente ameaçada – as crianças não aprendem a língua como materna em casa; severamente ameaçada – a língua é falada pelas gerações mais velhas, como os avós; os pais podem até entendê-la, mas não conversam com as crianças nessa língua; criticamente ameaçada – apenas os idosos falam, com pouca frequência; extinta – não há mais falantes da língua.
1. b) Tanto uma língua morta quanto uma língua extinta são assim denominadas porque não existem mais falantes nativos delas. A diferença é que de uma língua morta há registros escritos em documentos, enquanto de uma língua extinta não há registro escrito. Assim, a língua morta é passível de aprendizagem, como é o caso do latim, já que existem documentos, gramáticas e dicionários que permitem seu estudo. Já as línguas extintas, por serem apenas orais, desaparecem por completo.

‘[…] A língua é a essência de um povo e, ao desaparecer essa língua, e sse povo vai perder a sua identidade e vai se enfraquecer. A língua, muitas vezes na história humana, vai determinar a constituição de u m território exclusivo do povo que a fala e também a formação de Estados nacionais. Cada povo tem uma língua, isso é um princípio que às vezes não se aplica, mas geralmente é muito importante’.
A morte dos falantes e a falta de continuidade pelos mais novos são aspectos determinantes para o fim de uma língua. A interação com idiomas hegemônicos e a exclusão sofrida em centros u rbanos são decisivas. ‘Os jovens passam a não desejar mais falar a língua dos pais. Muitos deixam a reserva indígena e v ão para as cidades para começar uma vida diferente, aí nós temos o começo do fim de uma língua. A língua passa a ser somente entendida pelos filhos e passa não ser mais falada pelos netos’ [...].
DALL’ARA, João. O desaparecimento de um idioma é o começo do fim de um povo. Jornal da USP, [São Paulo], 8 jun. 2022. Disponível em: https://jornal.usp.br/atualidades/ o-desaparecimento-de-um -idioma-e-o-comeco-do-fim-de -um-povo/. Acesso em: 9 out. 2024.
DA NACIONALIDADE
[…]
1. d) Os órgãos governamentais de proteção à população indígena são os principais responsáveis por elaborar políticas públicas de valorização da cultura indígena e de preservação das suas línguas.
Art. 13. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil.
BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 Brasília, DF: Presidência da República, [2024]. Disponível em: www.planalto.gov.br/ ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 3 set. 2024.
Foi apenas nos anos 1990 que questões políticas envolvendo as línguas passaram a receber mais atenção e, com o crescimento das pautas minoritárias, passou-se a questionar as políticas linguísticas existentes, inclusive o conceito de país monolíngue.
1. Estima-se que, no início da colonização, existiam cerca de 1 200 línguas indígenas no Brasil e, atualmente, há cerca de 274, muitas das quais em perigo de extinção. Em duplas, pesquisem dados para responder às questões. Para desenvolver um olhar crítico sobre esse contexto linguístico, sigam estas orientações.
• Coletem dados de três meios jornalísticos diferentes – privado, público e independente – e comparem as informações solicitadas nas questões.
1. a) Significa que ela está em risco de desaparecimento porque o número de falantes nativos está reduzido.
• Verifiquem se as fontes dos dados são apresentadas nos textos pesquisados e se há imparcialidade, isenção e neutralidade na forma de apresentar a informação.
a) O que significa uma língua estar em perigo de extinção?
b) Considerando que as línguas vivem por meio de seus falantes, conceitue a diferença entre língua morta e língua extinta.
c) Identifique os fatores que provocam o desaparecimento de uma língua.
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor.
d) Identifique ações possíveis e por quem elas poderiam ser adotadas para mitigar a extinção de línguas no Brasil.
e) Discuta com os colegas a comparação feita entre as mídias usadas na pesquisa.
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
• Consideram que as informações foram suficientes para responder às questões?
• I dentificaram abordagens diversas que contribuíram para o desenvolvimento de um pensamento crítico sobre as questões?
• Reconheceram tendências preconceituosas em alguma das mídias pesquisadas?
f) Reflita sobre as consequências do desaparecimento de uma língua e registre-as no caderno.
Espera-se que os estudantes reconheçam que o desaparecimento de uma língua carrega também o desaparecimento da história, da cultura e da existência de um povo.
2. a) Observa-se no mapa que o idioma inglês é falado nas Américas, na Europa, na África e na Oceania. 2. b) Espera-se que os estudantes reconheçam que os Estados Unidos se tornaram uma potência em diversas áreas e são reconhecidos como a nação com maior poder econômico do mundo. Além disso, o histórico de expansão dos países anglófonos contribuiu para a disseminação do inglês em diferentes continentes e, nesse total, estão considerados os falantes nativos e outros falantes.
2. Observe o mapa que apresenta as quatro línguas mais faladas no mundo e responda às questões a seguir.
As quatro línguas mais faladas no mundo em 2024
Círculo Polar Ártico

Trópico de Câncer
OCEANO PACÍFICO
Equador
Inglês
1 515 000 000 (total)
380 000 (falantes nativos)
Trópico de Capricórnio
Mandarim 1 140 000 000 (total) 941 000 (falantes nativos)
Hindi
608 800 (total) 345 000 (falantes nativos)
Espanhol
559 500 (total) 486 000 (falantes nativos)
Círculo Polar Antártico
OCEANO ATLÂNTICO
OCEANO GLACIAL ÁRTICO
OCEANO PACÍFICO
OCEANO ÍNDICO
OCEANO GLACIAL ANTÁRTICO
Fronteira 0 2560
Fonte: ETHNOLOGUE. What are the top 200 most spoken languages? [Quais são as 200 línguas mais faladas?]. Texas: Ethnologue, 2024. Tradução nossa. Disponível em: www.ethnologue.com/insights/ethnologue200/. Acesso em: 3 set. 2024.
a) De acordo com o mapa, qual idioma está presente em quatro continentes?
b) De acordo com seus conhecimentos, explique que fatores são responsáveis por tornar o inglês a língua mais falada no mundo.
c) Se fossem considerados somente os falantes nativos, qual idioma você acredita que ocuparia a primeira posição do ranking de línguas mais faladas no mundo?
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor.
A história do desenvolvimento da variedade brasileira da língua portuguesa é muito diversa da de outros países onde também se fala o português. Isso porque, à língua portuguesa falada em Portugal à época da colonização e trazida pelos colonizadores, somaram-se diversos vocábulos da língua tupi, falada pelos povos indígenas que habitavam a costa brasileira – apesar da posterior supressão do uso dessa língua –, assim como vocábulos e expressões trazidos pelos povos africanos escravizados; tempos depois, com os processos imigratórios que trouxeram para o Brasil italianos, alemães, holandeses, japoneses e, mais recentemente, haitianos, venezuelanos, sírios, nigerianos e outras nacionalidades, muitos outros vocábulos e expressões próprios das línguas nativas desses povos foram acrescidos ao português falado no Brasil. Mais recentemente, o fenômeno da globalização e a disseminação do uso da internet inseriram na língua diversas palavras novas.
3. Para conhecer mais sobre a formação da língua portuguesa no Brasil, reúna-se com seu grupo e complete a linha do tempo ilustrada a seguir. Reproduza-a no caderno, em uma folha avulsa ou em meio digital, e, após a realização das pesquisas, preencha as lacunas da linha do tempo de forma coletiva. As partes a serem completadas têm orientações em azul.
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
2. c) Espera-se que os estudantes reconheçam que a China é considerada o país mais populoso do mundo e, por isso, se o mapa apresentasse os dados referentes somente aos falantes nativos, contabilizaria o número de 941 milhões, segundo os dados constantes da legenda do mapa; passando a ocupar o primeiro lugar entre as línguas do ranking.

Séc. VIII a.C. L atim: a planície do Lácio (onde atualmente se situa Roma) é dominada pelos romanos. O latim se sobrepõe como língua local. A nobreza fala latim clássico, considerado erudito; os soldados e a plebe falam latim vulgar.
Séc. IV a.C. Período pré-românico: a expansão do Império Romano espalha o latim vulgar por meio da incursão dos soldados nos territórios conquistados. É escrito o Appendix Probi, palimpsesto com registro das grafias em latim clássico ao lado da forma falada em latim vulgar.

■ Palimpsesto Appendix Probi.
Séc. I a X Período românico: desenvolvem-se mesclas linguísticas entre o latim vulgar e as línguas locais nas regiões dominadas pelo Império Romano.
1090 G alego-português: o Império Romano chega com força na região dos Condados de Portugal e Galícia; a localização geográfica favorece conflitos identitários que perpassam a língua.
Séc. XIII e XIV Português arcaico: a mescla do latim vulgar dos conquistadores romanos com as línguas árabes faladas em Portugal – as moçárabes – dá origem ao romanço, o “falar à maneira dos romanos” e, posteriormente, à língua portuguesa.
1536 Primeira gramática: Pesquise informações sobre as duas primeiras gramáticas publicadas em língua portuguesa em Portugal e elabore, no caderno, uma descrição de cada uma delas com apresentação de seus respectivos autores na sua folha de linha do tempo. Comente sobre a importância delas para o registro da língua.
Séc. XV e XVI Português clássico e moderno: ocorre a consolidação do português como língua de unidade nacional em Portugal. A língua portuguesa é disseminada pelo mundo por meio das conquistas durante as Grandes Navegações, período em que as expedições portuguesas chegam ao Brasil. Início da colonização portuguesa e estabelecimento, nesse país, da língua geral, formada pelo contato entre o tupi e a língua portuguesa, logo a partir da chegada dos jesuítas, que auxiliaram nesse processo, em 1549.

■ ORTELIUS, Abraham. Typus orbis terrarum. In: ORTELIUS, Abraham. Theatrum orbis terrarum. [S. l.: s. n.], 1570. O Teatro do Globo Terrestre, de Abraham Ortelius, foi elaborado com base nas Grandes Navegações e é considerado o primeiro atlas moderno.
1712

1757
Primeiro vocabulário:
Pesquise informações sobre o primeiro vocabulário publicado em língua portuguesa no mundo e elabore uma descrição sobre ele na sua folha de linha do tempo. Encontre uma imagem de capa desse dicionário para ilustrar sua linha do tempo e componha uma legenda descritiva para ela.
Escravização: no Brasil, Marquês de Pombal proíbe a escravização dos nativos e tem início o tráfico de africanos das regiões costeiras. O uso do tupi é proibido, e o uso da língua portuguesa é declarado obrigatório.
1759 E xpansão: os jesuítas são expulsos do Brasil. A língua portuguesa se expande pelo território.
1808 Família real:
Pesquise informações sobre a chegada da família real portuguesa ao Brasil e sua influência nos falares da região onde se estabeleceu. Amplie a pesquisa para a presença do livro no Brasil, por influência da família real. Componha um texto sobre as pesquisas para a linha do tempo. Encontre uma imagem para representar a chegada da família real e crie uma legenda descritiva para essa imagem.
1816 Primeira gramática escrita por um brasileiro:
Pesquise informações sobre a primeira gramática da língua portuguesa escrita por um brasileiro, no Brasil, e escreva uma descrição sobre ela na sua folha de linha do tempo.
1818 Início das imigrações:
Pesquise informações sobre o contexto de chegada dos primeiros imigrantes europeus ao Brasil, seus destinos no país e as influências linguísticas que proporcionaram. Componha um texto sobre as pesquisas para a linha do tempo. Encontre uma imagem para representar esse processo de imigração e crie uma legenda descritiva para essa imagem.
1850 Ampliação da imigração: o tráfico de escravos é proibido no Brasil, e tem início a imigração de outros povos europeus, incentivada pela promessa de doação de terras; logo, amplia-se a mescla de línguas.
1854 Reforma educacional Couto Ferraz:
Pesquise como foi essa reforma e as implicações para o ensino e a disseminação da língua portuguesa no Brasil. Considere quem foram os beneficiados por essa educação em língua portuguesa.
1919 Gramática brasileira:
Pesquise informações sobre a gramática de Manuel Said Ali Ida (18611953) e sua importância para a língua portuguesa brasileira. Escreva uma descrição sobre ela na sua folha de linha do tempo. Encontre uma imagem da capa dessa gramática para ilustrá-la e componha uma legenda descritiva para ela.
A língua é instrumento de identidade de um povo e também de poder, o que gera tensões e cria a necessidade de luta por reconhecimento e espaço no caso de comunidades linguísticas minoritárias.
Para legitimar a existência das diversas comunidades linguísticas, é imprescindível que existam legislação e políticas governamentais que reconheçam a importância da preservação linguística. Considerando essa importância, um grupo internacional de escritores conhecido como PEN (abreviação do inglês Poets, Essayists and Novelists) propôs, em 1996, na Conferência Mundial sobre Direitos Linguísticos ocorrida em Barcelona, na Espanha, a Declaração Universal dos Direitos Linguísticos (DUDL), a qual foi assinada pela Unesco.

Conceitos
Artigo 1º
Esta Declaração entende por comunidade linguística toda a sociedade humana que, radicada historicamente num determinado espaço territorial, reconhecido ou não, se identifica como povo e desenvolveu uma língua comum como meio de comunicação natural e de coesão cultural entre os seus membros. A denominação língua própria de um território refere-se ao idioma da comunidade historicamente estabelecida neste espaço.
Artigo 6º
Esta Declaração exclui que uma língua possa ser considerada própria de um território unicamente por ser a língua oficial do Estado ou ser tradicionalmente utilizada nesse território como língua de administração ou de certas atividades culturais.
PEN INTERNATIONAL; UNESCO. Declaração Universal dos Direitos Linguísticos. Barcelona: DHnet, 1996. p. 4, 6, grifo nosso. Disponível em: www.dhnet.org.br/direitos/deconu/a_pdf/dec_universal_direitos_linguisticos.pdf. Acesso em: 3 set. 2024.
4. Forme grupos com quatro integrantes e pesquisem informações sobre as comunidades indicadas no quadro a seguir. Cada integrante do grupo deve pesquisar uma comunidade. Depois, façam uma apresentação oral aos colegas para compartilhar conhecimentos.
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor.
a) Organizem os papéis que irão exercer e definam as responsabilidades de cada um.
b) Pesquisem em sites especializados – oficiais de cidades e estados –, artigos científicos da área linguística, reportagens em fontes confiáveis e em vídeos os temas a seguir e registrem as informações no caderno.
• Localidades de origem das comunidades;
• Localidades que habitam no Brasil;
• Características geográficas do local – número de habitantes, gentílico, atividade econômica principal;
• Características culturais da tradição local: festas típicas, culinária, particularidades;
• Características linguísticas da comunidade (os vídeos podem ilustrar os falares).

1. Estão corretas as afirmações I e II. A afirmação III está incorreta porque a valorização de outras línguas não desvaloriza a língua portuguesa; pelo contrário, agrega a ela uma variedade maior de línguas coexistentes, permitindo que os falantes ampliem seus conhecimentos linguísticos.
1. Leia, a seguir, o trecho de um texto, publicado na página do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que apresenta o Inventário Nacional da Diversidade Linguística (INDL), e copie, no caderno, as afirmações corretas sobre suas interpretações.
Estima-se que mais de 250 línguas sejam faladas no Brasil entre indígenas, de imigração, de sinais, crioulas e afro-brasileiras, além do português e de suas variedades. Esse patrimônio cultural é desconhecido por grande parte da população brasileira, que se acostumou a ver o Brasil como um país monolíngue. O resultado da mobilização que envolveu setores da sociedade civil e governamentais interessados em mudar esse cenário é o Decreto No 7.387, de 9 de dezembro de 2010, que instituiu o Inventário Nacional da Diversidade Linguística (INDL) como instrumento oficial de identificação, documentação, reconhecimento e valorização das línguas faladas pelos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira.
[…] Não é possível, por exemplo, pensar ações de fortalecimento de línguas sem considerar as políticas educacionais. De forma semelhante, uma das maiores demandas dos grupos de falantes de línguas minoritárias está relacionada ao direito de acesso a serviços públicos na sua língua de referência e de implementação de projetos de apoio à produção literária e audiovisual, que buscam favorecer a preservação e a transmissão intergeracional.
DIVERSIDADE linguística: no Brasil, são faladas mais de 250 línguas. [S. l.]: Iphan: INDL, 2014. Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/indl. Acesso em: 19 ago. 2024.
I. O Decreto mencionado no texto reconhece o Brasil como um país multilíngue.
II. É p ossível afirmar que o Decreto oficializa o reconhecimento da importância de políticas públicas que possam fortalecer a presença de outras línguas coexistindo com o português.
III. O Decreto desvaloriza o português por retirá-lo da condição de língua única e oficial, o que pode prejudicar sua aprendizagem.
2. Leia o título e a linha fina da notícia a seguir para responder às questões.

ALIMENTOS não dão trégua: em 12 meses, cebola sobe 43%; batata inglesa, 67%. O Globo, Rio de Janeiro, 11 fev. 2021. Disponível em: https://oglobo.globo.com/economia/alimentos-nao-dao -tregua-em-12-meses-cebola-sobe-43-batata-inglesa-67-24875138. Acesso em: 6 set. 2024.

2. b) Resposta pessoal. Sugestão de título: Inflação não dá trégua: em 12 meses, cebola sobe 43% e batata inglesa, 67%.
a) Copie, no caderno, entre os itens a seguir, o que explica a estratégia utilizada pelo jornal para apresentar o aumento de preço dos alimentos mencionados. O autor da matéria:
O item correto é o I.
I. escolhe como sujeito da ação os alimentos, como se eles fossem os responsáveis pelo próprio aumento de preço.
II. escolhe citar diversos nomes de alimentos para tirar o foco do aumento dos preços.
III. associa um fator humano, a trégua, ao aumento de preços, tirando o foco da inflação.
b) Caso a equipe do jornal optasse pela exposição da origem do aumento de preços, considerando os textos que estão no título e na linha fina, como esse título poderia ser reorganizado?
c) Considerando as análises feitas, você considera possível o leitor ser manipulado por meio de títulos de notícias? Discuta seu ponto de vista com os colegas.
3. (Enem)
Respostas pessoais. Espera-se que os estudantes reconheçam que a ordenação dos recursos linguísticos pode influenciar a compreensão da mensagem e manipular o leitor não crítico.
Antigamente, os pirralhos dobravam a língua diante dos pais e se um se esquecia de arear os dentes antes de cair nos braços de Morfeu, era capaz de entrar no couro. Não devia também se esquecer de lavar os pés, sem tugir nem mugir. Nada de bater na cacunda do padrinho, nem de debicar os mais velhos, pois levava tunda. Ainda cedinho, aguava as plantas, ia ao corte e logo voltava aos penates. Não ficava mangando na rua, nem escapulia do mestre, mesmo que não entendesse patavina da instrução moral e cívica. O verdadeiro smart calçava botina de botões para comparecer todo liró ao copo d’água, se bem que no convescote apenas lambiscasse, para evitar flatos. Os bilontras é que eram um precipício, jogando com pau de dois bicos, pelo que carecia muita cautela e caldo de galinha. O melhor era pôr as barbas de molho diante de um treteiro de topete, depois de fintar e engambelar os coiós, e antes que se pusesse tudo em pratos limpos, ele abria o arco.
ANDRADE, C. D. Poesia e prosa . Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1983 (fragmento).
Cair nos braços de Morfeu Dormir Liró Bem-vestido
Debicar Zombar, ridicularizar Convescote Piquenique
Tunda Surra Treteiro de topete Tratante atrevido
Mangar Escarnecer, caçoar Abrir o arco Fugir
Tugir Murmurar Bilontra Velhaco
FIORIN, J. L. As línguas mudam. In: Revista Língua Portuguesa, n. 24, out. 2007 (adaptado).
Na leitura do fragmento do texto Antigamente constata-se, pelo emprego de palavras obsoletas, que itens lexicais outrora produtivos não mais o são no português brasileiro atual. Esse fenômeno revela que
a) a língua portuguesa de antigamente carecia de termos para se referir a fatos e coisas do cotidiano.
b) o português brasileiro se constitui evitando a ampliação do léxico proveniente do português europeu.
c) a heterogeneidade do português leva a uma estabilidade do seu léxico no eixo temporal.
d) o português brasileiro apoia-se no léxico inglês para ser reconhecido como língua independente.
e) o léxico do português representa uma realidade linguística variável e diversificada.
3. Resposta: alternativa e O texto contém palavras e expressões que caíram em desuso, o que comprova que a língua é dinâmica e novos vocábulos vão se acrescentando à língua enquanto outros vão caindo em desuso ao longo do tempo.
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor
1. a) O texto verbal do anúncio provoca um efeito de humor que só é possível compreender ao se identificarem os elementos verbais de duas línguas diversas na construção das frases.
A localização geográfica do Brasil proporciona fronteiras com diversos países falantes de espanhol. Algumas dessas fronteiras são em meio a florestas; outras, divididas por rios; mas há também as chamadas fronteiras secas, cuja divisa entre países é uma praça, um parque ou uma rua.

Esse é o caso das cidades de Santana do Livramento (RS) e Riviera (Uruguai), onde apenas uma avenida separa os dois países, e de Dionísio Cerqueira (SC) e Bernardo de Irigoyen (Argentina), em que há um parque de acesso livre para os dois países.
■ Parque Turístico Ambiental de Integração, na fronteira entre Dionísio Cerqueira (SC), à direita, e Bernardo de Irigoyen (Argentina), à esquerda.

Nessas localidades, o contato entre a língua portuguesa e o espanhol dá origem a uma variedade conhecida como portunhol, popularmente considerada uma mistura entre essas duas línguas para fins de comunicação.
1. Leia, a seguir, um cartaz de campanha divulgada por um órgão do Ministério do Turismo voltado para a promoção do turismo no Brasil.

a) Como se constrói linguisticamente o humor do anúncio?
b) Como é possível identificar o portunhol no anúncio?
c) Considerando o texto verbal do anúncio, qual é o seu objetivo?
1. c) O anúncio foi divulgado por um órgão vinculado ao Ministério do Turismo responsável pela promoção do turismo no Brasil; pode-se inferir, portanto, que o objetivo do anúncio é incentivar o turismo de falantes de espanhol no Brasil, com o apelo de que, aqui, a língua não será barreira para o falante do espanhol ser entendido.
■ EMBRATUR. [Campanha] Aqui hablamos portuñol: en Brasil todo mundo se entiende. 2017. 1 cartaz.
1. b) Pela mescla de elementos do vocabulário da língua portuguesa com vocábulos da língua espanhola. Aqui é um pronome da língua portuguesa; hablamos, forma verbal em espanhol; en, preposição em espanhol; Brasil, todo, mundo e se, vocábulos em língua portuguesa; e entiende, forma verbal em espanhol. A sintaxe, ou seja, a organização oracional, é comum aos dois idiomas, o que favorece a compreensão da mensagem mesmo com mistura de palavras de duas línguas diferentes.

2. a) Português: sei como será nas terra, Ninguéim, Como eu, daqui, dalí, nosso, pisamo, língua que falemo. Espanhol: viven los que tienen apeyido, Los Se, frontera, No es, suelo

■ Capa do livro.
Em Era uma vez en la fronteira selvagem , o escritor Douglas Diegues (1965-), nascido no Rio de Janeiro, filho de pai brasileiro e mãe paraguaia e c riado em Ponta Porã (MS), cidade localizada na fronteira entre Brasil e P araguai, reúne sete fábulas populares colhidas na fronteira entre esses dois países.
A o transcrever as fábulas da modalidade o ral para a escrita, o autor adotou a língua empregada na comunicação oral desses textos em sua comunidade de circulação, o portunhol selvagem. A leitura desse livro é uma oportunidade de conhecer a riqueza de uma das línguas que tem uma grande comunidade de falantes dentro do nosso território.
DIEGUES, Douglas. Era uma vez en la fronteira selvagem. Ilustrações: Ricardo Costa. São Paulo: Barbatana, 2019. Capa.
Diversos estudos linguísticos vêm comprovando a existência de um portunhol que ultrapassa a simples finalidade de comunicação em situação de contato, para desenvolver uma variedade linguística que incorpora outras línguas, em um processo de formação que se consolida com certas regras entre seus falantes, apresentando, portanto, diversas variações. É o caso do portunhol selvagem, apresentado por autores de literatura e professores de espanhol como uma mistura do português com o espanhol falado e escrito na tríplice fronteira entre o Brasil, a Argentina e o Paraguai e que apresenta também influências de outras línguas, como o guarani.
2. Leia um poema em portunhol, de Fabián Severo (1981-), poeta que reside na região de fronteira entre o Brasil e o Paraguai.
2. h) Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes retomem conteúdos trabalhados ao longo do capítulo e identifiquem a região de fronteira e os falantes de portunhol como uma comunidade linguística que precisa de políticas públicas que reconheçam as suas especificidades linguísticas e culturais.
Noum sei como será nas terra sivilisada
Mas ein Artigas
Viven los que tienen apeyido.
Los Se Ninguéim
Como eu
Semo da frontera
Neim daqui neim dalí
2. c) É possível identificar algumas palavras escritas conforme sua sonoridade, não necessariamente seguindo regras ortográficas da língua portuguesa ou do espanhol, mas sim um modo de falar que pode ser típico da região da fronteira.
No es nosso u suelo que pisamo
Neim a língua que falemo
2. f) O sentimento de que ele e seus conterrâneos não são considerados socialmente pertencentes a nenhum lugar específico, pois não dominam nenhuma língua oficialmente reconhecida.
SEVERO, Fabián. Noite nu Norte/Noche en el norte: poesía de la frontera. Montevidéu: Rumbo Editorial, 2011. p. 21.
a) Considerando seus conhecimentos de português e espanhol, quais palavras ou expressões podem ser identificadas em cada uma dessas línguas?
b) Algumas palavras parecem não pertencer a nenhuma das duas línguas. Quais são elas?
sivilisada, ein, Semo, Neim
c) Ao analisar essas palavras e a organização dos versos, que estratégias o poeta utiliza para representar o portunhol?
d) Artigas é uma cidade de fronteira. Como o eu lírico identifica os residentes dessa região?
Como Sé Ninguéim.
e) Busque explicar por que, na visão do eu lírico, é dada essa identificação para os residentes em Artigas.
f) Que sentimento do eu lírico fica evidente no poema em relação a viver na fronteira?
2. g) Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor.
g) Por que o eu lírico afirma que a língua falada não é dele?
h) Em seu ponto de vista, quais são os principais desafios de viver em uma região de fronteira?
2. e) Resposta pessoal. Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
Nesta seção, você e seu colega de dupla vão produzir um web story com base em uma notícia sobre o tema “representatividade feminina no setor cultural”.

1. Em 1984, o MoMA (Museu de Arte Moderna) de Nova Iorque apresentou ao público a exposição “An international survey of recent painting and sculpture” (“Uma pesquisa internacional de pinturas e esculturas recentes”, em português), que buscava reunir os artistas mais importantes da década. Embora a curadoria do museu tenha evidenciado a representatividade da mostra, uma realidade diferente se destacou: entre 165 pintores e escultores selecionados, somente 13 eram do sexo feminino. Foi a partir desse evento que um grupo de sete mulheres decidiu protestar na frente da instituição. Cansadas de serem representadas nas obras de artistas homens, mas não terem a chance de expor seus trabalhos autorais, essas mulheres foram também ignoradas em seu protesto. Então, passaram a espalhar cartazes pela cidade enquanto usavam máscaras de gorila. Foi assim que surgiu o Guerrilla Girls, um dos movimentos feministas mais importantes do mundo da arte. Observe, a seguir, uma obra do movimento.

■ GUERRILLA GIRLS. As vantagens de ser uma artista mulher. 2017. Impressão digital sobre papel, 45 cm 3 58,5 cm. Museu de Arte de São Paulo.
1. b) O título promete ao leitor apresentar as vantagens de ser uma artista mulher. No entanto, embora sejam organizados de maneira a parecer vantajosos, os itens apresentam as dificuldades da mulher artista.

RETOMADA
Neste capítulo, os estudos de análise linguística colocaram em evidência as relações de poder proporcionadas pela língua e pela escolha de recursos linguísticos. No gênero textual notícia, isso se evidenciou nos títulos, nas escolhas vocabulares e nos recursos de imparcialidade que retiram a projeção do enunciador e tornam o texto da notícia objetivo. Retome esses estudos e selecione estrategicamente, com os colegas, os recursos linguísticos adequados para atender ao propósito de seu texto no web story.
1. c) Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes reconheçam a importância da denúncia feita por meio da obra, o que favorece o debate sobre o tema da representatividade feminina na arte.
a) A obra apresenta um texto organizado em formato de lista, na qual os itens apresentados deveriam indicar as vantagens de ser uma artista mulher, mas, na verdade, elucidam as desvantagens desse cenário por meio do uso da ironia. Reescreva, no caderno, a lista indicando, à sua maneira, a verdadeira mensagem que cada item oculta.
b) O título é grafado em letras maiores e em negrito. Qual é a relação de ironia estabelecida entre o título e os itens da lista?
c) O bserve a última frase do cartaz. Em sua opinião, de que maneira a obra de Guerrilla Girls pode ser considerada uma mensagem de utilidade pública?
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor
1. Para dar início à produção, reúna-se com um colega e, depois, faça a leitura completa desta etapa, listando as ações necessárias para a produção. Com a lista em mãos, decidam juntos a divisão de tarefas de maneira justa.
2. Na seção Estudo do Gênero Textual, foi estudada a função do gênero textual web story no campo jornalístico-midiático, que é a de atrair a atenção do leitor para a leitura de uma notícia ou de uma reportagem, gerando engajamento ao veículo jornalístico. Com esse objetivo em mente, os web stories publicados nesses veículos normalmente apresentam, ao final, o link que direciona o usuário para os textos de interesse. Por isso, o primeiro passo de produção da dupla será encontrar uma notícia, relacionada ao tema “representatividade feminina na arte”, a qual dará origem ao web story produzido.
3. É importante que a dupla selecione uma notícia que atenda às características apresentadas na seção Estudo do Gênero Textual. Após a escolha feita, apresente-a aos colegas e ao professor para avaliação de atendimento ao gênero.
4. Com a notícia escolhida, a dupla deve decidir qual será o objetivo de compartilhar o web story. Para isso, escolha um caminho entre estas duas opções:
a) compartilhar o web story para apresentar um resumo da notícia e convidar o usuário a uma leitura completa ao final; ou
b) compartilhar o web story para apresentar um ponto relevante da notícia, capaz de gerar engajamento, e convidar o usuário a uma leitura completa ao final.
5. Após as escolhas editoriais tomadas, é necessário compor um roteiro do web story, do qual deve constar: quantas páginas serão produzidas, quais recursos das linguagens verbal e não verbal serão utilizados, qual identidade visual será adotada.

6. A dupla deve, então, ler a notícia com atenção, escrever o texto verbal que irá compor cada página e decidir quais recursos devem acompanhá-lo. Não se esqueça de que, além de ilustrações, gráficos e fotografias, os web stories permitem o uso de áudios, vídeos e gifs. Além disso, o texto verbal apresentado deve sempre prezar pela objetividade e concisão. Reservem a última página para apresentar ao usuário o link clicável para a notícia utilizada como referência.
7. Por fim, os web stories podem ser criados por meio digital; para isso, existem ferramentas gratuitas que simplificam o processo e podem ser encontradas por meio de busca na internet.
1. Leia as questões a seguir e utilize-as como roteiro para avaliação e reedição do web story.
• O texto escolhido para servir de base para a criação atende às características do gênero textual notícia?
• O tema da representatividade feminina no universo artístico está contemplado?
• O texto verbal apresentado é conciso e objetivo?
• Os recursos disponíveis – como vídeo, fotografia, ilustração, gráfico, gif e áudio –foram utilizados?
• Há um diálogo coerente entre o texto verbal e os recursos apresentados?
• O web story apresenta uma identidade visual consistente?
• O web story serve à função de atrair o usuário para a leitura da notícia completa?
• O link clicável para a leitura da notícia utilizada como base é apresentado ao final?
• As escolhas vocabulares foram pensadas estrategicamente para alcançar o propósito do texto em relação ao leitor?
• Houve uma releitura do texto para verificação de desvios ortográficos, de convenções de escrita e gramaticais?
• A lógica das ações é linear e coerente, propondo continuidade de início, meio e finalização?
• Há recursos linguísticos que ligam as ideias entre os quadros do web story de forma coesa?
2. Após verificar esses itens, faça as alterações necessárias no web story
Os web stories produzidos devem ser compartilhados com a comunidade escolar. No entanto, a turma vai decidir em conjunto de que maneira esse compartilhamento ocorrerá. Se possível, utilize as redes sociais da escola.
1. a) Resposta pessoal. Sugestão de resposta:
As desvantagens de ser uma artista mulher: Trabalhar sob a pressão de obter sucesso;
Ter de participar de exposições onde a maioria é de homens;
Não conseguir se dedicar à arte por necessidade de se dedicar aos trabalhos remunerados;
Saber que as chances de sucesso e reconhecimento diminuem com a idade;
Ter sua arte sempre rotulada como feminina;
Ter de ficar presa a um trabalho que oferece segurança, como o de professor;
Ter suas ideias plagiadas no trabalho de outros artistas;
Sem rede de apoio no exercício da maternidade, ter de escolher entre maternidade e o exercício da arte;
Não tem uma imagem imponente, normalmente reservada a artistas famosos homens –charutos enormes e ternos italianos;
Ser abandonada no casamento;
Apenas ter a oportunidade de expor sua arte em versões revistas da história da arte, que tentam corrigir o problema da equidade de gênero no setor cultural; Não ter seu trabalho reconhecido como genial; Precisar se manifestar para conquistar um espaço na arte.
Na seção Estudo literário, foi efetuada uma análise do poema “Marabá”, de Gonçalves Dias, e sua relação com a primeira geração do Romantismo, bem como foi observada a representação da mulher indígena no poema “Brasil”, de Eliane Potiguara. Na seção Estudo do gênero textual, foram observados a estrutura e o conteúdo da notícia e do gênero web story. A importância da seleção vocabular, as relações de poder existentes no uso da língua, o multilinguismo e um pouco da história da língua portuguesa foram temas tratados na seção Estudo da língua. Agora, procure responder às questões a seguir.

1. Como se define o movimento literário conhecido como Romantismo?
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor.
2. Cite duas características da primeira geração do Romantismo brasileiro e explique de que modo elas são exploradas no poema “Marabá”.
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
3. Analise como o posicionamento da mulher indígena diante de suas características é apresentado no poema “Marabá” e no poema “Brasil”.
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
4. Quais são os principais pontos de atenção em relação à estruturação e ao conteúdo de uma notícia?
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor.
5. De que modo o web story contribui para a disseminação da informação?
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor.
6. Por que o Brasil não pode ser considerado um país monolíngue?
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor.
7. Cite os principais acontecimentos observados na história da língua portuguesa.
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor
Além da compreensão do conteúdo, é importante refletir sobre seu desempenho e sua aprendizagem ao longo do estudo do capítulo. Para isso, no caderno, reproduza o quadro a seguir e responda às questões. Em seguida, converse com os colegas e com o professor sobre formas de aprimoramento de sua aprendizagem e anote-as na coluna de observações.
Ao longo do estudo do capítulo, percebo que...
… realizei as tarefas que estavam sob minha responsabilidade.
… compreendi e consegui sintetizar os conceitos literários, de gênero textual e linguísticos.
… produzi com empenho de aprendizagem todas as propostas de pesquisa.
… considerei as necessidades do grupo do qual participei na produção textual e agi com colaboração e ética em relação às minhas responsabilidades e ao grupo.
Fui proficiente Preciso aprimorar








Observações




Muitos assuntos abordados neste capítulo têm sido objeto de questões de vestibulares e provas de ingresso. A questão comentada a seguir é da prova de ingresso para a Universidade Federal do Paraná (UFPA) de 2010. Leia sua abordagem e atente para o formato de elaboração, para que seja possível interpretá-la corretamente. Em seguida, registre a alternativa correta no caderno.

Gonçalves Dias pertence à primeira geração romântica no Brasil, época da independência associada às aspirações nacionalistas e de grande interesse por questões locais. Convém lembrar que, na sua produção, destacam-se os temas da poesia lírico-amorosa, da indianista e da nacionalista. Assinale a opção em que se destaca o texto de tema indianista
a) “Adeus qu’eu parto, senhora: Negou-me o fado inimigo
Passar a vida contigo,
Ter sepultura entre os meus;”
b) “Ó Guerreiros da Taba sagrada, Ó Guerreiros da Tribo Tupi, Falam Deuses nos cantos do Piaga, Ó Guerreiros, meus cantos ouvi.”
c) “Enfim te vejo! — enfim posso, Curvado a teus pés, dizer-te, Que não cessei de querer-te, Pesar de quanto sofri.”
d) “Não permita Deus que eu morra, Sem que eu volte para lá;
Sem que desfrute os primores
Que não encontro por cá;”
e) “Assim eu te amo, assim; mais do que podem Dizer-to os lábios meus, — mais do que vale
Cantar a voz do trovador cansada:
O que é belo, o que é justo, santo e grande
A mo em ti. — Por tudo quanto sofro,”
A questão apresenta um enunciado que contextualiza a primeira geração romântica e, em seguida, algumas características literárias dessa geração.
Os termos em destaque são conceitos-chave para a realização da questão. Assim, após a leitura do enunciado, retome mentalmente o modo como o nacionalismo, o indianismo e o amor se manifestavam nos poemas da primeira geração romântica. Compreender o nacionalismo e as características da poesia lírico-amorosa romântica irá auxiliar na eliminação das alternativas incorretas.
O objetivo da questão é analisar se o candidato compreendeu as características da poesia indianista e se consegue identificá-las em um trecho de poema. Assim, para realizar a questão, é necessário identificar a alternativa em que os elementos que representam o indianismo estão presentes.
Resposta: alternativa b. Os elementos que remetem à cultura indígena se evidenciam no trecho do poema, pois ele versa sobre os indígenas tupi. As alternativas a, c e e versam sobre a construção do amor no romantismo, enquanto a alternativa d versa sobre o nacionalismo/ufanismo romântico.

Resposta pessoal. O objetivo da atividade é incentivar os estudantes a refletir sobre o modo como, em uma obra de arte, diferentes elementos interagem para a construção do sentido. Em
Onça autêntica, as diferentes texturas empregadas se sobrepõem, formando o corpo do animal representado.
Resposta pessoal. O objetivo da atividade é estimular a reflexão acerca da intencionalidade de Onça autêntica ao representar a onça em primeiro plano, encarando quem contempla a obra.
Com base em seus conhecimentos e na obra Onça autêntica, apresentada na abertura do capítulo, responda às questões a seguir.
1. Observe as cores e as texturas empregadas na imagem. Em sua interpretação, qual é o efeito gerado pela interação entre esses elementos?
2. Observe o modo como a figura da onça está posicionada na imagem. Em seu ponto de vista, o que esse recurso estético procura expressar?
3. Após interpretar a imagem, reflita sobre o título da obra literária O som do rugido da onça, que será estudada na seção Estudo Literário. Como você imagina que a temática da pintura e a da obra literária irão se relacionar?
4. Quais elementos você consideraria para escrever uma resenha crítica sobre essa imagem?
5. Na obra de Esbell, o animal onça é representado em forma de uma pintura. A que recursos linguísticos você recorreria para produzir um texto apreciativo sobre essa pintura?
Campos de Atuação
• C ampo artístico-literário
• C ampo das práticas de estudo e pesquisa
• Cidadania e civismo: Educação em Direitos Humanos; Direitos da criança e do adolescente
• Multiculturalismo: Educação para a valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais brasileiras
3. Resposta pessoal. O objetivo da atividade é incentivar a associação temática entre a pintura e o título da obra que será lida pelos estudantes. Durante a atividade, é possível que eles associem a obra à temática indígena ou à ambiental.
Avance até a seção Oficina de Projetos nas páginas finais do livro e dê continuidade à etapa “Dividir tarefas e empreender”.
4. O objetivo desta questão é levantar os conhecimentos prévios dos estudantes sobre o gênero resenha crítica. Considere as respostas as quais apresentem propostas que abordem os elementos da imagem, descrevam sua composição técnica e façam uma apreciação sobre ela.
5. Espera-se que os estudantes mencionem os recursos linguísticos apreciativos, sobretudo os adjetivos. Caso não citem esses recursos, reforce que o tema será retomado no decorrer do capítulo.


■ ESBELL, Jaider. Onça autêntica. 2021. Acrílico sobre cason, 42 cm 3 30 cm. Galeria Jaider Esbell, Boa Vista, Roraima, Brasil. A obra de arte que abre este capítulo foi produzida pelo artista Jaider Esbell (1979-2021), do povo macuxi. Nascido em Normandia (RR), ele é um dos principais nomes da arte indígena contemporânea.
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor
Você lerá um capítulo do romance O som do rugido da onça (2021), escrito por Micheliny Verunschk. O livro foi vencedor do Prêmio Jabuti de romance literário em 2022.
Dividido em três partes, a obra transforma em ficção a história real de duas crianças indígenas, a menina Iñe-e, do povo miranha, e um menino do povo juri, que, em 1830, foram sequestradas e levadas para a Baviera, região da Alemanha, pelos cientistas Carl Friedrich Philipp von Martius (1794-1868) e Johann Baptist von Spix (1781-1826) com o intuito de serem exibidas para os europeus como seres exóticos. As gravuras das duas crianças, pintadas por Martius, fazem parte da coleção de obras do Instituto Itaú Cultural, em São Paulo. O capítulo que você lerá pertence à primeira parte da narrativa, na qual o leitor é apresentado à história das crianças, além de acompanhar a viagem de navio até a Baviera e o estabelecimento das crianças na corte.

Respostas pessoais. O objetivo da questão é estimular os estudantes a pensar sobre os pontos de vista possíveis de uma mesma história.
Antes de iniciar a leitura do capítulo, discuta com os colegas as questões a seguir.
• Com base em seu repertório pessoal, você imagina que a história das crianças mirana e juri será contada de qual perspectiva: das crianças, dos cientistas ou de um narrador-observador? Explique.
• Ainda com base em seus conhecimentos, qual é a importância de recontar histórias reais como a de mirana e juri por meio da literatura? Como isso pode ajudar a preservar memórias e críticas sociais?
Respostas pessoais. O objetivo da questão é estimular os estudantes a refletir sobre o papel da ficcionalização de fatos históricos, levando em consideração o potencial crítico trazido pelas expressões artísticas. A literatura pode transformar eventos históricos em narrativas acessíveis e impactantes, permitindo que os leitores se conectem emocionalmente e compreendam melhor as complexidades envolvidas. Além disso, ao destacar injustiças e críticas sociais, a ficção pode estimular a reflexão e o diálogo sobre questões importantes, contribuindo para uma maior conscientização e um potencial para mudança social.
imprecação: desejo de que algo ruim aconteça com alguém.
Fraülein: “senhorita”, em alemão. No Brasil, pode ser usado para referir-se à governanta ou à professora em contextos específicos.
1. II.
Esta é a história da morte de Iñe-e. E também a história de como ela perdeu o seu nome e a sua casa. E ainda a história de como permanece em vigilância. De como foi levada mar afora para uma terra de inimigos. E de como, por artes deles, perdeu e também recuperou a sua voz. Preste atenção, essa voz que eu apresento agora não é a mesma voz que ecoava pela mata chamando pelos seus irmãos mais velhos enquanto colhia frutas para levar para a maloca. E muito menos é a voz que foi silenciada por baixo das tempestades e dos gritos do capitão, a voz abafada por vergonha das imprecações incompreensíveis dos cientistas e, depois, contida pelos risos nervosos dos cortesãos e pela impaciência rude das Fraülein . Tampouco é a voz que ignorou o que diziam sobre ela os jornais e as revistas da época, as cartas escritas em letras flexíveis como o broto do cipó. Essa voz que você ocasionalmente escutará em sua cabeça e que se confundirá com a sua própria voz, ou com a voz da sua filha, ou da criança da mulher vizinha, ou até, quem sabe, com a voz de sua avó, seja ela quem for, não é a mesma voz com que Iñe-e nasceu. Não é aquela que virou pedra
em sua garganta quando ela foi viver no grande castelo entre pessoas quase transparentes de tão brancas, suas carnes moles e azedas se movimentando por entre os panos coloridos e brilhantes que, embora bonitos, não poderiam disfarçar o feiume dos seus captores, seus cabelos, a maioria desbotados, carecendo da beleza esplendente que a tinta negra do huito pode dar. Também não foi aquela voz que ela escondeu, tesouro muito bem guardado, para que os inimigos não tivessem nada mais dela.
Empresta-se para Iñe-e essa voz e essa língua, e mesmo essas letras, todas muito bem-arrumadas, dispostas umas atrás das outras, como um colar de formigas pelo chão, porque agora esse é o único meio disponível. O mais eficiente. E embora ela, essa língua, seja áspera, perfurante, há alguma liberdade sobre como pode ser utilizada, porque houve muito custo em apreendê-la. Assim, se há uma recusa em usar a palavra taxidermia e se escolhe usar a palavra desencantamento, há teimosia nisso. E pode ter certeza de que Iñe-e aprovaria esse recurso. Se, em lugar de rio, ela falar muaai ou até Fluss , pode se tratar de uma admoestação a respeito do que lhe fizeram. Para contar esta história, Iñe-e adverte que não é possível ser tolerante. Ademais, usa-se essa voz e essa língua porque é com ela que se faz possível ferir melhor. É possível envenená-la, zarabatana, como fazem os guerreiros do povo miranha com o curare preparado com o suor e sangue de suas mulheres. É possível incendiá-la, curare quente e amargo. E de todo modo, como já se disse, é possível usá-la como se quiser.

Essa é a voz do morto, na língua do morto, nas letras do morto. Tudo eivado de imperfeição, é verdade, mas o que posso fazer senão contar, entre as rachaduras, esta história? Feito planta que rompe a dureza do tijolo, suas raízes caminhando pelo escuro, a força de suas folhas impondo nova paisagem, esta história procura o sol.
Quando Iñe-e morreu ela estava com doze anos de idade. Então, essa é a voz da menina morta. E se alguém perceber nela um acento rascante , e acaso a confundir com uma voz muito velha que se eleva de uma sepultura congelada, garanto que é da infância que essa voz brota, nasce e se levanta. E toda voz da infância, sabe-se, é selvagem, animal, insubordina os sentidos.
E agora que já se sabe, sigamos pelo começo de tudo. Por aquilo que foi determinado como o começo de tudo. E embora alguém possa refutar e dizer que esta história começou com um rei que, com o bisaco cheio de moedas da ávida burguesia, resolveu lançar-se ao mar, aquele mesmo, o Tenebroso, eu desminto e digo que tudo começou mesmo em Iñe-e.
VERUNSCHK, Micheliny. O som do rugido da onça. São Paulo: Companhia das Letras, 2021. E-book. Localizável em: 1.II.
Micheliny Verunschk é escritora, crítica literária, compositora e historiadora pernambucana. Natural do Recife, a autora publicou duas obras de poemas: Geografia íntima do deserto (2003) e A cartografia da noite (2010). Em 2014, Verunschk lançou o seu primeiro romance, intitulado Nossa Teresa: vida e morte de uma santa suicida (2014), e, com ele, foi contemplada com o Prêmio São Paulo de Literatura na categoria melhor escritora estreante acima de 40 anos. Com o romance O som do rugido da onça, a escritora foi vencedora de dois grandes prêmios literários: o Prêmio Jabuti e o Prêmio Oceanos. Além de graduada em História, é Mestre em Literatura e Crítica Literária e Doutora em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).
feiume: feiura.
huito: pequeno fruto amazônico, usado para pintura corporal tradicional.
taxidermia: processo que consiste em encher de palha um animal morto a fim de conservar suas características. admoestação: advertência.
curare: veneno.
eivado: manchado, sujo. rascante: áspero, desagradável.
bisaco: pequeno saco de pano.

■ Micheliny Verunschk na feira de livro de Turim, Itália (2024).
1. b) Respostas pessoais. Espera-se que os estudantes reconheçam que a escolha dessa perspectiva aproxima o leitor da vivência de Iñe-e. No capítulo, ainda que a história seja contada em terceira pessoa, é possível observar um resgate ou uma tentativa de reconstrução do ponto de vista de Iñe-e sobre os eventos narrados.
2. Resposta pessoal. Os estudantes podem identificar a voz de Iñe-e como uma voz resistente, que representa a força e a luta dos indígenas para manter sua identidade, apesar do processo de despossessão cultural e territorial, consequentes da colonização.
3. Veja respostas e comentários nas Orientações para o

Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes reconheçam que a estrutura de negação reforça a resistência de Iñe-e, pois sua identidade é construída sempre em oposição às expectativas externas.
Espera-se que os estudantes reconheçam que essa técnica termina por enfatizar os acontecimentos que tentaram apagar a identidade de Iñe-e. Assim, a estrutura de negação reflete a dinâmica de poder entre os colonizadores e os indígenas e, ao mesmo tempo, mostra a multiplicidade da identidade de Iñe-e.
Veja respostas e comentários em Orientações para o
Veja respostas e comentários em Orientações para o professor
Os elementos do espaço físico da floresta se conectam às experiências de crescimento de Iñe-e e se configuram como um espaço familiar de aprendizado e crescimento. O espaço do castelo, por outro lado, é um espaço intimidante, que se associa à perda da liberdade de Iñe-e.
6. a) A descrição sugere que os captores têm uma aparência pálida em contraste à aparência dos indígenas, cuja pele é em tom escuro.
1. a) A perspectiva adotada durante a história será a perspectiva de Iñe-e, como se pode perceber no trecho “essa voz que eu apresento agora”, no qual se usa a primeira pessoa do singular.
1. Após a leitura do capítulo, retome as reflexões propostas no boxe
Primeiro olhar para responder às atividades a seguir.
a) De acordo com o capítulo, qual será a perspectiva enunciativa adotada durante o relato da história das crianças indígenas? Quais elementos do texto você identificou para chegar a essa conclusão?
b) A escolha dessa perspectiva pode impactar a maneira como a história será entendida e sentida? Explique considerando a sua experiência de leitura do capítulo.
2. No trecho a seguir, Iñe-e constrói a sua apresentação com base no que ela não é. Reestruture o trecho apresentando Iñe-e por meio do que ela representa em sua interpretação.
Preste atenção, essa voz que eu apresento agora não é a mesma voz que ecoava pela mata chamando pelos seus irmãos mais velhos enquanto colhia frutas para levar para a maloca. E muito menos é a voz que foi silenciada por baixo das tempestades e dos gritos do capitão, a voz abafada por vergonha das imprecações incompreensíveis dos cientistas e, depois, contida pelos risos nervosos dos cortesãos e pela impaciência rude das Fraülein.
3. Em O som do rugido da onça , apresenta-se uma dinâmica de poder estabelecida entre colonizadores e indígenas. Identifique no texto elementos que ilustram essa dinâmica.
4. A apresentação da personagem com base na oposição é chamada estrutura de negação.
a) Em sua perspectiva, de que maneira a estrutura de negação ajuda a construir a compreensão sobre a identidade e a trajetória de Iñe-e?
b) Como essa técnica de apresentação ajuda a evidenciar a dinâmica de poder apresentada no capítulo lido?
5. No decorrer do capítulo, a protagonista Iñe-e é apresentada de maneira profunda e detalhada, o que permite que o leitor se conecte com suas emoções. Para garantir que essa conexão aconteça, a autora faz uso dos elementos da narrativa.
a) Qual é o foco narrativo escolhido? Quais efeitos de sentido são gerados por essa escolha?
b) No capítulo, observa-se a alternância entre o tempo passado e o presente. Quais são os efeitos dessa construção?
c) Como os elementos do espaço físico da floresta e do castelo se conectam às experiências e às transformações de Iñe-e?
6. No capítulo, os captores de Iñe-e são descritos como “pessoas quase transparentes de tão brancas”. A esse respeito, responda às questões a seguir.
a) O que essa descrição sugere sobre a aparência física dos captores?
b) Como essa descrição pode ser entendida simbolicamente?
c) O que a descrição dos captores pode simbolizar em relação à dinâmica de interação entre os captores e os indígenas?
6. b) Simbolicamente, a transparência pode representar a falta de autenticidade dos captores bem como uma aparência desumanizada e fantasmagórica.
6. c) Espera-se que os estudantes reconheçam que essa descrição pode simbolizar o estranhamento dos indígenas diante dos captores. Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor

O gênero literário romance
O som do rugido da onça pertence ao gênero literário romance, que se caracteriza por ser um texto narrativo longo, escrito em prosa, estruturado em parágrafos e geralmente dividido em capítulos cujo objetivo é ficcionalizar determinadas percepções de mundo. O gênero surgiu com a ascensão da burguesia e, inicialmente, buscava representar as experiências da modernidade e da individualidade . Para analisar um romance, é importante prestar atenção aos principais elementos que compõem a história, como espaço, tempo, enredo, narrador e personagens , para compreender como são articulados. Observe o esquema a seguir.
Figura que articula os elementos da narrativa. O narrador pode ser observador, quando conta o fato com base no que observa, ou onisciente, quando tem acesso aos pensamentos e às emoções das personagens.
O narrador assume determinadas posições em relação ao que é narrado. Tais posições determinam o foco narrativo da história. Em um romance, o foco narrativo pode ser apresentado em primeira pessoa, quando a personagem narra os eventos que aconteceram com ela, e em terceira pessoa, quando um narrador descreve as ações e os pensamentos das personagens.
Espaço
É o ambiente onde as personagens circulam e onde se desenvolve o enredo.
Planas
Apresentam características mais simples, de modo que suas ações podem ser previstas pelo leitor.
Esféricas
Apresentam características mais complexas, de modo que suas ações são pouco previsíveis para o leitor.
É o conjunto de acontecimentos da narrativa, ou seja, a sequência de fatos que as personagens vivenciam em um determinado espaço e tempo. Pode ser linear ou não linear.
Cronológico
Apresenta marcos temporais (dias, meses, anos, horas etc.).
Psicológico
Está associado ao desenrolar dos acontecimentos na mente das personagens.
7. b) A afirmação sugere que o narrador e a personagem têm o poder e a liberdade de moldar a narrativa com base nas suas perspectivas e intenções, influenciando a maneira como a história será percebida durante a leitura.
7. a) Espera-se que os estudantes reconheçam que essa caracterização atribui à língua um caráter impositivo, como algo que é introjetado à revelia e à força. Ao se utilizarem palavras associadas à dor e à violência, produz-se impacto e desconforto no leitor, pois ele é capaz de reconhecer as sensações físicas experimentadas pela personagem.

Invenções de roseanas

■ Capa do livro.
Em O som do rugido da onça, a autora utiliza palavras das línguas indígenas miranha , juri e nheengatu . Além disso, palavras inventadas se articulam, no interior do texto, para criar sentidos novos. Essa técnica estilística, bem como a centralidade da figura da onça na narrativa, permite-nos aproximar o romance do conto “Meu tio iauaretê”, escrito por João Guimarães Rosa (19081967) e publicado no livro Estas estórias
GUIMARÃES ROSA, João. Estas estórias. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2017. Capa.
7. c) A escolha entre as duas palavras destaca de que modo a mudança de um vocábulo pode alterar a recepção do texto durante a leitura. Enquanto taxidermia sugere um processo objetificante de preservação, desencantamento sugere a perda de encanto sobre determinada história.
7. Releia o trecho a seguir.
E embora ela, essa língua, seja áspera, perfurante, há alguma liberdade sobre como pode ser utilizada, porque houve muito custo em apreendê-la. Assim, se há uma recusa em usar a palavra taxidermia e se escolhe usar a palavra desencantamento, há teimosia nisso.
a) No trecho, a língua dos captores é caracterizada como áspera e perfurante. Em sua interpretação, o que essa caracterização quer dizer e qual é o efeito produzido por ela?
b) E xplique o significado da afirmação “há alguma liberdade sobre como [a língua] pode ser utilizada”, no contexto do trecho lido.
c) Analise o significado das palavras taxidermia e desencantamento e explique a importância da escolha da primeira em detrimento da segunda no trecho lido. De que modo essa escolha pode alterar a percepção da história que será contada?
d) No texto, afirma-se que a escolha da palavra desencantamento no lugar de taxidermia pode ser interpretada como teimosia. Explique essa afirmação considerando o contexto a que essas palavras se referem.
8. Qual é a justificativa construída no terceiro parágrafo para a escolha da voz de Iñe-e e da língua portuguesa como forma de contar a história, no lugar da língua indígena do povo miranha? Explique considerando o contexto do romance.
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor.
9. No capítulo, a utilização da língua portuguesa para contar a história de Iñe-e é associada a um processo de envenenamento. Discuta essa associação, considerando a resposta da atividade anterior.
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
10. b) Essas vozes e línguas refletem as narrativas e personagens que foram silenciadas ou esquecidas ao longo da história, mas que o narrador busca resgatar.
10. Releia este trecho e, em seguida, responda ao que se pede.
Essa é a voz do morto, na língua do morto, nas letras do morto. Tudo eivado de imperfeição, é verdade, mas o que posso fazer senão contar, entre as rachaduras, esta história? Feito planta que rompe a dureza do tijolo, suas raízes caminhando pelo escuro, a força de suas folhas impondo nova paisagem, esta história procura o sol.
10. a) No contexto da narrativa, tais expressões podem indicar a transmissão de eventos que estão no passado e deixar marcado que a indígena foi morta. Não há efetiva voz de fala dela na narrativa.
a) No trecho, o narrador se refere à voz do morto e à língua do morto. O que essas expressões significam no contexto da narrativa?
b) Como as expressões analisadas no item anterior podem refletir a situação das personagens e a história que está sendo contada?
7. d) Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes reconheçam que a escolha da palavra desencantamento sugere uma visão crítica sobre eventos que, antes, eram vistos com distanciamento. Essa escolha pode ser considerada teimosia porque implica uma recusa da perspectiva técnica (sugerida pela palavra taxidermia) sobre a narrativa.

c) O narrador menciona que a história contada é eivada de imperfeição. Quais são as imperfeições a que o narrador se refere e de que maneira elas afetam a forma como a história é recebida pelos leitores?
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor.
d) E xplique a metáfora “feito planta que rompe a dureza do tijolo” no contexto do trecho analisado. Em sua resposta, analise o que a busca da história pelo sol pode simbolizar.
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor.
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor
Voz narrativa é o termo utilizado para designar a perspectiva através da qual a história é apresentada ao leitor, estabelecida principalmente pela escolha do vocabulário, pelo estilo de escrita e pelos pontos de vista sobre os eventos narrados. Ela pode ser tanto em primeira pessoa (narrador personagem) quanto em terceira pessoa (narrador que observa os eventos de fora).
Durante a leitura, o leitor combina sua própria voz, perspectivas e pontos de vista com a voz narrativa para dar sentido ao texto. Esse processo faz com que a voz narrativa tenha características próprias, permitindo que um texto literário seja interpretado de diversas maneiras por diferentes leitores ou pelo mesmo leitor em momentos distintos de sua vida. No entanto, essas interpretações são guiadas pelo texto literário e devem seguir o enredo e a lógica propostos, sem se desviarem do que o texto apresenta. Em narrativas literárias contemporâneas, como O som do rugido da onça , é comum a existência de diversas vozes narrativas que dialogam entre si e são apresentadas de formas diferentes no decorrer do livro, possibilitando novas perspectivas e camadas que enriquecem a interpretação do texto.
11. No trecho, a escolha de vocabulário e o estilo de escrita contribuem para a construção de uma voz narrativa específica. Analise as afirmações a seguir e copie, no caderno, aquelas que explicam de que maneira tais escolhas influenciam no estabelecimento de determinado ponto de vista sobre a história.
I. O estilo de escrita de Micheliny Verunschk é marcado por um vocabulário que enfatiza a complexidade emocional e a subjetividade das personagens indígenas, o que provoca a reflexão sobre as injustiças históricas e questiona a narrativa tradicional eurocêntrica.
II. No trecho, usam-se termos sensíveis e descritivos para criar uma conexão emocional do leitor com a perspectiva dos povos indígenas afetados pela colonização.
III. O vocabulário usado por Micheliny Verunschk para descrever a vida dos indígenas levados para a Europa reforça a crítica à exploração científica e cultural dos povos originários durante as expedições coloniais.
IV. A escolha de uma linguagem evocativa e crítica no trecho do romance contribui para a construção de uma voz narrativa que apresenta uma perspectiva alternativa àquela adotada pelos exploradores europeus sobre os eventos históricos.
Estão corretas as afirmações I, II e IV.
A composição das diversas vozes que coexistem para construir os sentidos de um texto é denominada polifonia . Na literatura, a utilização da polifonia contribui para expor percepções de mundo das diversas personagens.
12. No penúltimo parágrafo do capítulo, o narrador chama a atenção para a possível confusão da voz de Iñe-e com uma voz muito velha. A esse respeito, responda às questões a seguir.
a) Considerando o contexto em que o enredo se baseia, o que motivaria essa confusão?
b) No parágrafo, o narrador afirma que “toda voz da infância, sabe-se, é selvagem, animal, insubordina os sentidos”. Como pode ser compreendida essa relação entre infância e o caráter selvagem da voz?
c) E xplique como a voz narrativa do texto e suas próprias experiências pessoais influenciaram sua interpretação do capítulo. Em sua explicação, dê exemplos de como suas vivências e emoções contribuíram para a sua compreensão pessoal da história de Iñe-e.
Em O som do rugido da onça, as estruturas de temporalidade e espacialidade aparecem mescladas e fragmentadas, pois transitam entre o tempo passado, em que se situa a infância de Iñe-e, e o tempo presente, em que a história será contada. Essa estratégia de construção narrativa contribui para o efeito polifônico do romance, pois insere o leitor diante de uma diversidade de vozes narrativas que se alternam e se sobrepõem ao longo da leitura. Tal estrutura formal reflete as características dos romances contemporâneos, que muitas vezes procuram reinventar os modos de escrita tradicionais.

Como mencionado anteriormente, a narrativa de O som do rugido da onça se divide em três partes: a primeira parte corresponde à viagem de mirana e juri para a Baviera; a segunda parte introduz a personagem Josefa que, na temporalidade do Brasil contemporâneo, vai visitar a exposição do Itaú Cultural e se vê diante da gravura de Iñe-e, pintada por Martius; a terceira parte do romance, por sua vez, se concentra em analisar o vínculo de Iñe-e com a figura da onça, que emerge como narradora da história contada.
13. Em duplas, leiam os trechos a seguir para responder às questões.
TRECHO I
12. a) O que motivaria a confusão é o fato de ser a história de uma personagem criança que aconteceu séculos atrás.
[…]
12. b) Ao descrever a voz infantil como selvagem, o narrador indica que ela não foi domesticada, isto é, responde a instintos, e não a regras e convenções. É uma voz espontânea, verdadeira e, por isso, poderosa.
No Brasil, aproximaram-se das autoridades locais, tornaram-se figuras conhecidas das comunidades indígenas e contaram com a colaboração inestimável da própria população nos deslocamentos e ocasiões em que faziam imersões no coração da floresta. VEJA conversou com um desses auxiliares, que assegurou que os dois alemães se apaixonaram pelo país. Tanto é assim que relutavam em voltar à Europa. Parte do acervo que foi recolhido ao longo dos três anos da expedição brasileira – plantas exóticas, diamantes e até animais – foi despachada para o Velho Continente antes da viagem de retorno dos próprios naturalistas. Ao todo, estima-se que enviaram principalmente para a Alemanha 9 000 espécies de plantas e animais, incluindo mamíferos, aves e anfíbios, em sua maioria vivos.
AS REVELAÇÕES de Spix e Martius após três anos na floresta brasileira. Veja, [s l.], 4 jun. 2024. Disponível em: https:// veja.abril.com.br/especial-1822/as-revelacoes-de-spix-e-martius-apos-tres-anos-na-floresta-brasileira. Acesso em: 6 set. 2024.
TRECHO II
1. XIX.
12. c) Resposta pessoal. O objetivo da questão é que os estudantes reflitam sobre a leitura realizada e conectem elementos da leitura com a sua experiência pessoal.
[…] No sábado que antecedera o batismo de Iñe-e e do menino Juri, sentou-se à escrivaninha e escreveu uma carta à mãe contando dos tesouros adquiridos pelo marido: 85 mamíferos, 350 aves, 2 700 insetos, 6 500 plantas e duas crianças.
VERUNSCHK, Micheliny. O som do rugido da onça. São Paulo: Companhia das Letras, 2021. E-book. Localizável em: parte 1.XIX.

2. I.
13. a) Essa escolha estilística desumaniza as crianças capturadas, pois elas são tratadas como mercadoria. Isso contribui para a construção de uma visão crítica sobre o modo por meio do qual os naturalistas percebiam as sociedades indígenas.
[…] Os naturalistas Spix e Martius chegaram a levar do Brasil para a Alemanha o casal de índios representado nestas gravuras (Miranha e Juri , 10 e 11). Sem imunidade alguma contra doenças comuns na Europa, mesmo uma simples gripe, o casal morreu depois de apenas alguns meses no novo clima.
Os costumes e adereços dos índios suscitavam grande curiosidade no Velho Mundo e, por isso, foram assunto obrigatório dos primeiros álbuns publicados na Europa, com base nos desenhos realizados no Brasil por artistas e naturalistas viajantes.
VERUNSCHK, Micheliny. O som do rugido da onça. São Paulo: Companhia das Letras, 2021. E-book. Localizável em: parte 2.I.
a) No Trecho II, números são utilizados para descrever o que foi chamado de tesouros adquiridos. Qual é o efeito dessa escolha estilística e como ela contribui para a construção crítica do trecho?
b) O Trecho III, ao transformar um relato histórico em ficção, busca construir uma visão crítica sobre um acontecimento. Qual é essa visão crítica?
c) O Trecho I, extraído de uma reportagem, e o Trecho III, extraído do romance O som do rugido da onça, abordam as expedições de Spix e Martius. De que forma as escolhas de vocabulário em cada um dos trechos contribuem para a construção de pontos de vista diferentes sobre o mesmo fato?
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor.
14. Leia o trecho a seguir, extraído do discurso da onça na última parte do romance. Em seguida, copie, no caderno, as afirmações corretas a respeito do trecho lido.
13. b) O Trecho III é focado na exploração e nas consequências das expedições científicas para as crianças capturadas, criticando a curiosidade europeia pelos costumes indígenas e a sua exotização.
Iñe-e, tu é minha e, por ser minha, é bom que saiba que tu é onça quando quiser de ser. Mãos tuas viram patas macias, orelhas tuas se acendem setas, e aqui te surgem bigodes que te ensinam a ser quem tu é e a andar pelos caminhos que tu deve de andar. Iñe-e, te digo que tu é onça-onça porque conheço tu de longe, pelo cheiro, do primeiro berro que mecê deu pro mundo e chegou até meu coração pra eu escutar. Mas, pra que tu seja onça por completa transformação, tu deve de dizer assim, acreditado, que tu é onça e que, onça sendo, de tua pele há de brotar pele de onça e de tua boca hão de surgir dentes de onça que hão de rasgar a carne e o nervo mais duros, com língua de se lavar em sangue nascendo da cova funda de tua garganta. Tu olha pro chão e a terra fala com tu assim do jeito como fala com eu. […]
VERUNSCHK, Micheliny. O som do rugido da onça. São Paulo: Companhia das Letras, 2021. E-book. Localizável em: parte 3.II.
I. A voz narrativa no trecho atribui à onça a capacidade de falar diretamente com Iñe-e e orientar sua transformação.
II. A linguagem utilizada pela onça é poética e simbólica, refletindo a conexão espiritual entre Iñe-e, a onça e a natureza.
III. O trecho da onça representa uma desconexão com a temática geral do romance.
IV. O trecho sugere que a transformação de Iñe-e em onça é tanto física quanto espiritual, implicando uma fusão entre identidade humana e animal.
V. A mudança de voz narrativa no trecho oferece uma perspectiva mais íntima e subjetiva da transformação de Iñe-e.
Estão corretas as afirmações I, II, IV e V. A afirmação III está incorreta, pois, no trecho, oferece-se uma nova perspectiva sobre a mesma temática.
15. b) São descritas como “quase transparentes de tão brancas, [de] carnes moles e azedas”. Tem a intenção de criticar as pessoas do castelo por se afastarem das características do povo de Iñe-e e estarem associadas aos seus captores.
15. Releia este trecho de O som do rugido da onça.
16. a) Voz - própria, mesma; mulher – vizinha; castelo – grande; pessoas – transparentes, brancas; carnes – moles, azedas; panos – coloridos, brilhantes, bonitos; captores – feiume; cabelos –desbotados; beleza – esplendente; tinta – negra.

Essa voz que você ocasionalmente escutará em sua cabeça e que se confundirá com a sua própria voz, ou com a voz da sua filha, ou da criança da mulher vizinha, ou até, quem sabe, com a voz de sua avó, seja ela quem for, não é a mesma voz com que Iñe-e nasceu. Não é aquela que virou pedra em sua garganta quando ela foi viver no grande castelo entre pessoas quase transparentes de tão brancas, suas carnes moles e azedas se movimentando por entre os panos coloridos e brilhantes que, embora bonitos, não poderiam disfarçar o feiume dos seus captores, seus cabelos, a maioria desbotados, carecendo da beleza esplendente que a tinta negra do huito pode dar.
15. a) Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
a) A caracterização da voz de Iñe-e não se refere ao timbre ou volume, mas a uma capacidade de se colocar no mundo e de ser ouvida. Explique as estratégias utilizadas para caracterizar essa voz.
b) De que modo as pessoas com as quais Iñe-e foi viver são descritas? Essa descrição das pessoas tem uma intencionalidade da voz narrativa? Se sim, explique-a.
16. Releia o trecho apresentado na questão 15.
a) Identifique os substantivos do trecho e os adjetivos a que eles se referem.
b) Que efeito de sentido os adjetivos produzem?
Adjetivos
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor.
Os adjetivos contribuem para a caracterização de cada item descrito, expondo a eles juízos de valor da voz narrativa, o que contribui para a interpretação que o leitor fará de cada um desses referentes.
Um adjetivo é modificador de um substantivo. Ele tem duas funções essenciais.
1. C aracterizar seres, objetos ou conceitos nomeados pelo substantivo a que se refere, indicando uma qualidade ou defeito, o modo de ser, a aparência ou o estado.
Por exemplo: “voz […] contida pelos risos [substantivo] nervosos [adjetivo] dos cortesãos”.
2. E stabelecer com o substantivo uma relação de tempo, de matéria, de espaço, de propriedade, entre outras, promovendo, assim, uma classificação desse substantivo a que se refere.
Por exemplo: “toda voz [substantivo] da infância [equivalente ao adjetivo infantil], sabe-se, é selvagem [adjetivo]”.
17. Considerando a funcionalidade dos adjetivos, de que modo eles contribuem para a construção de efeitos de sentidos na narrativa? Discuta com os colegas.
17. Espera-se que os estudantes reconheçam a importância dos adjetivos para a caracterização de personagens, da temporalidade, do espaço e de outras partes narrativas, o que contribui para a formação das imagens mentais do leitor em relação ao fato narrativo.
A seguir, você irá ler um trecho do romance A confissão da leoa (2016), do autor moçambicano Mia Couto (1955-), baseado em uma história real, assim como O som do rugido da onça. Para escrever essa obra, Mia Couto ficcionalizou ataques de leões a pessoas que começaram a ocorrer ao norte de Moçambique. Caçadores foram recrutados para a proteção das aldeias, mas, aos poucos, perceberam que, do ponto de vista dos habitantes das aldeias, os ataques tinham origem sobrenatural. O romance apresenta dois narradores personagens: o caçador Arcanjo Baleiro, recrutado para a aldeia de Kulumani com o objetivo de liquidar os leões, e Mariamar, habitante local que, por causa dos ataques dos leões, é proibida de sair de casa. Cada um por meio da sua voz narrativa observa e descreve os acontecimentos.
No trecho que você irá ler a seguir, a voz narrativa é de Mariamar.
Quanto mais vazia a vida, mais ela é habitada por aqueles que já foram: os [sic], os loucos, os falecidos. Em Kulumani, todos idolatramos os nossos mortos, todos guardamos neles as raízes dos sonhos. O meu morto maior é Adjiru Kapitamoro. Em rigor, ele é o irmão mais velho de minha mãe. Na nossa terra, designamos de ‘avô’ todos os tios maternos. Adjiru é, aliás, o único avô que conheci. Chamamo-lo, em casa, de anakulu , ‘o nosso mais antigo’. Ninguém soube nunca a sua idade, nem ele mesmo tinha ideia de quando nascera. A verdade é que se proclamava tão perene que atribuía a si próprio a autoria do rio que atravessa a aldeia.

— Fui eu que fiz este rio, o Lundi Lideia — defendia, com altivez Era longa a lista das suas fabulosas fabricações: para além do rio, o avô já confecionara penedos , abismos e chuvas. Tudo graças às poderosas mintela , as mezinhas e os amuletos dos feiticeiros. Contudo, ele negava o grave estatuto:
— Não sou feiticeiro, sou apenas velho
No tempo colonial, o seu pai, o venerado Muarimi, exerceu funções de capitão-mor. Cobrava impostos e resolvia conflitos locais a favor dos colonos. Esse cargo custou a meu bisavô culpas, invejas e duradouras inimizades. A nossa família, contudo, ganhou o nome que agora ostenta : os Kapitamoros. Numa terra sem bandeira, nós erguíamos essa emprestada insígnia como se fosse um direito natural e milenar.
Ao arrepio da tradição familiar, o avô Adjiru se entregou a uma distinta ocupação: a caça. Era isso que ele era, por vocação e juramento: um caçador. A arma é a minha alma, dizia. Por acidente matou um homem, no cerco a um leopardo, para os lados de Quionga. Para se purificar desse sangue teria que se esfregar em cinzas de árvores. Recusou o ritual: para ele, um assimilado, aquilo era uma insuportável humilhação. Ficou interdito de caçar, limitando-se a atuar como pisteiro. Com a dignidade de um rei, aceitou essa despromoção. Até ao dia em que morreu, não perdeu o porte nobre. Exercendo serviços de chão, continuou sendo ele a derramar sombra em todo Kulumani. E agora, que a aldeia estremecia perante a ameaça dos leões, todos sentiam saudade dessa divina proteção.
Meu pai, Genito Serafim Mpepe, podia também ter sido caçador, por pleno direito. Preferiu, contudo, ficar por pisteiro, em solidariedade para com o seu falecido mentor. Despromovido um, despromovido o outro. Em tudo, afinal, Genito ambicionava seguir as passadas do destronado caçador. Todavia, o estatuto do avô era inalcançável. Adjiru fora mais que um mweniekaya, um chefe de família. A sua autoridade sempre se estendeu a toda a vizinhança. Era um mando silencioso, sem proclamação, de quem exerce grandeza sem precisar de palavra. Mas eu, Mariamar, era para ele uma pessoa especial. Para mim, o nosso ‘mais antigo’ reservara o mais enigmático presságio: — Você, Mariamar, veio do rio. E ainda há de surpreender a todos: um dia, você irá para onde o rio vai — vaticinou ele.
COUTO, Mia. A confissão da leoa. São Paulo: Companhia das Letras, 2016. E-book. Localizável em: Versão de Mariamar (2). O regresso do rio.
perene: aquilo que permanece durante um longo tempo. altivez: sentimento de dignidade. penedo: rochedo. venerado: respeitado. ostentar: exibir. insígnia: sinal de poder. assimilado: aquele que foi tornado semelhante a uma cultura, sem necessariamente pertencer a ela a princípio. pisteiro: aquele que segue o rastro de algum animal.
presságio: adivinhação do futuro. vaticinar: adivinhar.
António Emílio Leite Couto, conhecido como Mia Couto é biólogo, jornalista, escritor e professor moçambicano. O autor publicou o seu primeiro livro, Raiz de orvalho, em 1983. O seu romance Terra sonâmbula foi considerado um dos dez melhores livros africanos do século XX. Apresenta uma obra diversificada, que tem por objetivo explorar a relação da humanidade com a natureza e o território.

■ O escritor Mia Couto na FLIP, Paraty, Rio de Janeiro (2007).
1. a) Em Kulumani, os mortos são venerados e lembrados pelos seus habitantes, que percebem nos antepassados a conexão com as suas raízes. 1. b) A expressão raízes dos sonhos sugere que os mortos são a base sobre a qual os sonhos e as esperanças dos vivos são construídos. As raízes podem ser compreendidas como representativas da fundação das aspirações futuras dos habitantes de Kulumani, indicando que os seus sonhos estão conectados à memória dos antepassados.
1. No início do trecho lido, a narradora afirma que em Kulumani todos guardam em seus mortos as “raízes dos sonhos”. A esse respeito, responda às questões a seguir.
2. a) Adjiru Kapitamoro é descrito como um homem de grande sabedoria e autoridade, cuja idade avançada e experiência lhe conferem um status quase mítico na comunidade de Kulumani. Ele é retratado como um caçador habilidoso e uma figura respeitada, conhecida por suas fabulosas narrativas e seus

A recusa de Adjiru Kapitamoro em se purificar revela sua individualidade e resistência às tradições. Ele vê o ritual de purificação como incompatível com sua identidade de assimilado. Essa decisão também sugere uma rejeição do personagem sobre as normas impostas pela
a) Qual é a importância dos falecidos para os habitantes de Kulumani?
b) Como a expressão raízes dos sonhos pode ser compreendida no contexto do romance?
2. Releia o trecho, observe o modo como a figura de Adjiru Kapitamoro é descrita e, em seguida, responda às questões.
a) Quais características do personagem são destacadas como fundamentais para sua identidade e seu papel em Kulumani?
b) Adjiru Kapitamoro recusa-se a se purificar após matar um homem por acidente. Quais aspectos de sua personalidade e crenças são revelados com essa recusa?
3. Tendo em vista a relação entre Genito Serafim e Adjiru Kapitamoro, como a memória e o legado deste influenciaram as aspirações e as ações daquele na aldeia de Kulumani?
4. Após a apresentação das experiências passadas e da posição ocupada por Adjiru Kapitamoro, revela-se o presságio feito pelo personagem. Que presságio é esse?
5. Antes de revelar o presságio, a narradora apresentou e justificou a autoridade exercida por Adjiru. Como essa construção influencia o modo como o presságio é recebido pelo leitor?
6. Leia outro trecho de A confissão da leoa a seguir e responda às questões.
As ações de Genito são guiadas pelo desejo de preservar a memória de Adjiru, refletindo a importância dos valores e ensinamentos que o pai de Mariamar recebeu. Sua decisão de não se tornar caçador, mas de ser pisteiro, tal como a última ocupação do pai, é uma forma de homenagear a dignidade e a resistência de Adjiru diante da despromoção.
Segundo Adjiru, Mariamar, a narradora do trecho, veio do rio e irá para onde o rio vai.
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
O escritor é branco e baixo. Eu sou mulato e alto. O escritor fala pelos cotovelos e olha as pessoas bem nos olhos. Em contrapartida, os olhos humanos roubam-me a alma, quanto mais humano o olhar mais eu me converto em bicho.
[…]
[…] O meu olhar percorre a paisagem como um fogo lambendo os capins. Onde o escritor vê árvores, eu vejo refúgios feitos de sombras. Numa dessas sombras repousarão os famigerados leões, comedores de gente e de sonhos.
COUTO, Mia. A confissão da leoa. São Paulo: Companhia das Letras, 2016. E-book. Localizável em: Diário do caçador (2). A viagem.
a) Analise as diferenças físicas e comportamentais entre o escritor e o narrador. Como essas diferenças contribuem para a interpretação do trecho lido?
b) E xplique o contraste entre a visão do narrador e a do escritor sobre a paisagem observada.
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor.
c) No trecho, o narrador se percebe como um bicho. Em seu ponto de vista, essa percepção pode ser compreendida como negativa ou positiva? Justifique.
Respostas pessoais. Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor.
Realismo animista
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor
Na literatura de Mia Couto, a inserção de elementos imprevisíveis, estranhos ou sobrenaturais ocorre por meio da incorporação da matriz de crenças, valores e percepções africanas do pensamento. Nessa perspectiva, forças da natureza e da ancestralidade manifestam-se de modo a influenciar o cotidiano dos personagens. Esse recurso estético pode ser definido pelo termo realismo animista , elaborado pelo escritor angolano Pepetela (1941-). O animismo é compreendido como um sistema de pensamento que considera a existência de interconexão entre os seres, sejam eles vivos ou não vivos, por meio da espiritualidade que rege a natureza.
5. Ao estabelecer primeiro a autoridade, a sabedoria e a influência de Adjiru na comunidade, a narrativa cria um contexto que favorece a aceitação do presságio. O leitor entende que o presságio não é apenas uma declaração qualquer, mas sim uma mensagem vinda de uma figura de grande respeito e conhecimento, o que confere ao presságio maior credibilidade.

As consequências podem ser: criminosas, por meio do roubo de imagens e postagens indevidas em outros locais; psicológicas, por meio das respostas recebidas depois da exposição, que podem gerar distúrbios de imagem e outros problemas na autopercepção das crianças; entre outras.
7. Retome o que foi estudado sobre os romances O som do rugido da onça e A confissão da leoa . A ideia da morte é apresentada em ambos os romances. Como ela é abordada em cada um deles? Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor.
Respostas pessoais. Espera-se que os estudantes reflitam sobre as consequências da superexposição das crianças nas redes, inclusive por motivações dos pais, muitas vezes quando são ainda bebês. Pondere o discernimento crítico das crianças diante dessa exposição e as consequências para seu desenvolvimento.
Em O som do rugido da onça, duas crianças são sequestradas por pesquisadores alemães e levadas para outro país, junto de animais e plantas, como uma espécie exótica a ser estudada. Elas foram expostas como elementos que despertavam a curiosidade em zoológicos humanos. A exposição dessas crianças ocorreu no contexto do século XIX. Leia, a seguir, um trecho da reportagem “Sharenting: especialistas avaliam os riscos da exposição infantil nas redes sociais”, publicada no site do Instituto Brasileiro de Direito da Família. Depois, discuta com os colegas e o professor sobre as questões a seguir.
O fenômeno, cada vez mais comum na atualidade, tem nome em inglês e repercussões graves para os direitos daqueles que estão entre os mais vulneráveis na nossa sociedade: sharenting . A expressão, que consiste na junção das palavras share (compartilhar) e parenting (parentalidade), define o hábito de compartilhar, na internet, vídeos e fotos do dia a dia dos filhos.
A influência digital, porém, tem consequências ainda incertas para o desenvolvimento das crianças. É o que explica a advogada Isabella Paranaguá, presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, seção Piauí – IBDFAM-PI.
Ela defende que a exposição excessiva de informações pessoais e imagens das crianças causa impactos na privacidade infantil e na segurança on-line. ‘Por essa ser a geração mais observada em toda a história, as consequências são diversas e por se tratar de crianças e adolescentes, os responsáveis devem avaliar com cuidado antes de decidirem expor seus filhos na internet.’
ANUNCIAÇÃO, Débora. Sharenting: especialistas avaliam os riscos da exposição infantil nas redes sociais. Belo Horizonte: IBDFAM, 20 dez. 2023. Disponível em: https://ibdfam.org.br/noticias/11416/ Sharenting%3A+especialistas+avaliam+os+riscos+da+exposi%C3%A7%C3%A3o+ infantil+nas+redes+sociais. Acesso em: 6 set. 2024.
• A exposição de Iñe-e, no século XIX, tinha por objetivo apresentar as características indígenas na perspectiva da exotização ou da objetificação. Em sua opinião, a exposição das crianças nas redes sociais, na atualidade, também as insere em uma dessas perspectivas? Explique.
• A especialista entrevistada afirma que “a influência digital [pode ter] consequências ainda incertas para o desenvolvimento das crianças”. Que consequências podem ser essas, considerando o contexto de exposição on-line?
• Qual é seu posicionamento sobre a exposição nas redes sociais? Quais são os seus objetivos e quais riscos você assume com essa exposição?
Respostas pessoais. Pondere os pontos de vista e ajude os estudantes a refletir sobre causas e consequências de cada um dos objetivos estabelecidos e riscos assumidos.

Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor
Neste capítulo, você estudou algumas características do gênero romance. Entre as características estudadas, está a voz narrativa, ou seja, a perspectiva por meio da qual uma história é apresentada ao leitor. Nesta seção, você vai retomar os trechos dos romances trabalhados e os conceitos estudados para criar uma voz narrativa a fim de recontar a história de Iñe-e ou a de Mariamar. Essa voz narrativa pode pertencer a um narrador em primeira ou em terceira pessoa e pode ser personagem, observador ou onisciente.
1. Nesta Oficina Literária , a motivação para iniciar a produção do texto proposto envolve a reflexão acerca das diversas maneiras por meio das quais as histórias lidas poderiam ser contadas. Para isso, releia os trechos de O som do rugido da onça e de A confissão da leoa. Escolha um dos dois romances para realizar a atividade e selecione um trecho para reescrevê-lo no caderno. Em seguida, imagine quais outras vozes narrativas poderiam contar as histórias lidas.
• Essa voz se manifestaria em primeira ou em terceira pessoa?
• Ela pertenceria a alguma personagem? Se sim, qual?
• O narrador conhecerá sentimentos e pensamentos das personagens?

■ COUTO, Mia. A confissão da leoa. São Paulo: Companhia das Letras, 2016. Capa.
• Quais mudanças de perspectiva a história teria ao ser contada por essa voz?
1. Para dar início ao planejamento do texto, procure estruturar as características da voz narrativa seguindo os passos listados.
• Indique o foco narrativo por meio do qual a história será contada e se essa voz pertencerá a alguma personagem ou elemento que compõe a história.

• Escreva, no caderno, as características de estilo da voz narrativa elaborada, indicando se essa voz usará linguagem coloquial, linguagem formal, gírias ou marcas de oralidade.
• Indique se a voz narrativa elaborada irá assumir uma perspectiva neutra ou parcial sobre a história.
• Indique também se, com a inserção dessa voz, o tempo e o espaço priorizados obedecerão à ordem cronológica ou psicológica.
2. Para elaborar a reescrita do trecho original, avalie o estilo de escrita, considerando características específicas da voz narrativa definida por você.
3. Ao longo do texto, tome cuidado com as modificações de foco narrativo. Lembre-se de alterar os tempos e os modos verbais de acordo com as características estruturais da voz narrativa elaborada e com o efeito de sentido pretendido para o contexto.
4. Reflita sobre as construções de tempo e espaço durante a elaboração do seu texto. Tome cuidado para manter a coesão e a coerência da história contada. Insira descrições de paisagens, ambientes ou personagens, levando em consideração a perspectiva da voz narrativa escolhida.
1. Utilize as questões a seguir como roteiro para avaliação e reedição do trecho de acordo com as características da voz narrativa escolhida por você.
• O leitor consegue compreender o conteúdo do trecho e a perspectiva da qual ele é narrado?
• As características da voz narrativa enriquecem o enredo da história?
• Um leitor que já leu a obra original seria capaz de identificar as mudanças em relação ao conteúdo narrado?
• As marcações de tempo, espaço e foco narrativo estão evidenciadas e são gramaticalmente corretas?
• O estilo e o ponto de vista assumidos pela voz narrativa são estruturados de forma coerente e coesa?
A reescrita produzida pode ser compartilhada no blogue da turma, se houver, ou ser entregue ao professor para que, em data previamente definida, seja lida pela turma. As impressões sobre a atividade e sobre os textos podem ser compartilhadas em uma roda de conversa. Em um dia previamente combinado, organizem-se em um grande círculo e compartilhem as impressões acerca da narrativa dos colegas.

1. a) Os indígenas são retratados de uma perspectiva realista. Isso pode ser comprovado pela forma detalhista pela qual os traços das duas crianças são compostos.
1. As imagens a seguir correspondem às gravuras dos indígenas miranha (Iñe-e) e juri elaboradas por Martius que serviram como base para a composição do livro O som do rugido da onça . As gravuras, publicadas em 1844, hoje fazem parte da coleção do Instituto Itaú Cultural. Analise-as prestando atenção na maneira como as crianças indígenas foram retratadas. Em seguida, faça as atividades.


1. b) Espera-se que os estudantes reconheçam que, considerando o contexto de composição das gravuras, o que possivelmente teria motivado essa escolha de representação foi o fato de que os indígenas eram percebidos como elementos da fauna e da flora nacional e, portanto, precisavam ser registrados de uma perspectiva científica.
■ SPIX, Johann Baptiste von; MARTIUS, Carl Friedrich Philipp von. Miranha e juri. 1823. 2 litografias coloridas à mão. Coleção Brasiliana, Itaú Cultural. As litografias dos indígenas juri e miranha são retratadas na obra Natureza, doenças, medicina e remédios dos índios brasileiros (1844), de Carl Friedrich Philipp von Martius (1794-1868).
a) Nas imagens, os indígenas são retratados de uma perspectiva realista ou abstrata? Explique analisando os elementos das litografias.
b) Considerando o contexto de composição das gravuras, estudado por você anteriormente, o que possivelmente teria motivado a escolha por essa forma de representação?
2. Analise, a seguir, a fotografia de um indígena munduruku.

a) Q uais são as semelhanças e as diferenças que você observa entre as gravuras elaboradas por Martius e essa fotografia? Explique.
b) Considerando a data de registro da fotografia, presente na legenda, você acredita que a intencionalidade da obra se assemelha à intencionalidade das litografias?
2. a) Entre as possíveis semelhanças, está o caráter realístico de ambas as imagens. Entre as diferenças, está, na fotografia, a presença de marcas do tempo e, em cada uma das obras, a maneira como as cores se manifestam.
2. b) Espera-se que os estudantes percebam que, assim como nas litografias, na fotografia o indígena também é retratado como um objeto exótico a ser exposto.
■ Indígena Mundukuru, em Pará. Fotografia de c. 1873. Acervo Convênio Leibniz-Institut fuer Laenderkunde, Leipzig/Instituto Moreira Salles. A fotografia compõe a reportagem “O indígena no acervo da Brasiliana Fotográfica”, de Andrea C. T. Salles (disponível em: https://brasilianafotografica. bn.gov.br/?p=11371; acesso em: 31 ago. 2024).

No campo de atuação jornalístico-midiático, existem alguns gêneros textuais responsáveis por oferecer aos leitores informações sobre peças teatrais ou filmes em cartaz, eventos culturais, livros publicados e games lançados. Alguns desses gêneros, além dessas informações, também procuram apresentar uma avaliação crítica sobre essas obras artísticas e culturais. Esse é o caso da resenha crítica, gênero textual que será analisado neste capítulo.
Na seção Estudo Literário, você analisou um trecho do romance O som do rugido da onça, de Micheliny Verunschk. Agora, você vai ler uma resenha crítica sobre essa obra, publicada no jornal O Globo.
Antes de iniciar a primeira leitura do texto, converse com a turma sobre as questões a seguir.
• Você tem o costume de ler textos que apresentam avaliação de obras artísticas ou culturais? De que forma você costuma se informar sobre obras de seu interesse?
• Leia o título da resenha crítica apresentada a seguir. Em sua opinião, a resenhista irá recomendar a leitura do romance O som do rugido da onça ou dissuadir o leitor de lê-lo?
Respostas pessoais. Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
Resposta pessoal. Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor ‘O som do rugido da onça’: Um romance assombroso e com ferocidade animal
Com prosa que remete a Guimarães Rosa e Mário de Andrade, livro de Micheliny Verunschk parte da história real de duas crianças indígenas levadas para a Alemanha no século XIX
Stefania Chiarelli, Especial para O GLOBO
06/03/2021 - 04:30 / Atualizado em 28/11/2021 - 20:12
‘Eu em nada creio, sou um rio. Eu vou e volto, conheço o chão e o céu, compartilho a língua comum a todas as águas. Atravesso o tempo. Morro e renasço. Engulo e regurgito. Sei dos animais tristes que são os homens.’
Sábias palavras de Isar, o rio-mulher, em ‘O som do rugido da onça’, quinto romance de Micheliny Verunschk. Nele, a escritora e historiadora ficcionaliza a história real de duas crianças indígenas. Raptadas no Brasil, foram levadas para a Alemanha no século XIX pelos cientistas alemães Von Martius e Von Spix. Na

■ Escritora Micheliny Verunschk durante entrega do Prêmio São Paulo de Literatura (2015).

Europa, Iñe-e, do povo miranha, vira a triste Isabella, e um menino, de origem juri, transforma-se em Johann. Dois séculos depois, a visão de um quadro das crianças em uma exposição irrompe na vida de Josefa, cujo destino será impactado por esse encontro inesperado, iniciando uma busca por sua origem mestiça. São muitas as metamorfoses e renascimentos nesta narrativa – muda-se de país, de nome, de corpo.
Verunschk é autora da chamada trilogia infernal, composta por ‘Aqui, no coração do inferno’ (2016), ‘O peso do coração de um homem’ (2017) e ‘O amor, esse obstáculo’ (2018). Por seu primeiro livro de ficção, ‘Nossa Teresa, vida e morte de uma santa suicida’ (2014), recebeu o Prêmio São Paulo de Literatura. ‘O som do rugido da onça’ é formado por três blocos, entrelaçando de forma primorosa relatos de origem indígena (como o início, de forte impacto, descrevendo a criação do mundo na perspectiva dos miranha) a trechos que reproduzem a visão dos viajantes, a exemplo do diário do próprio Martius. A autora pernambucana dialoga com o gênero da literatura de viagem, mas traz para a trama do texto o olhar de diferentes sujeitos da História – lado a lado, o indígena, a natureza, a criança e o cientista se expressam, ‘desierarquizando’ saberes.
A prosa da escritora em muitos momentos apresenta uma cadência que remete à oralidade de Guimarães Rosa – difícil não lembrar de ‘Meu tio, o Iauaretê’ (1969), antológico conto do autor mineiro. A possível linhagem produz uma conexão, mas não define essa escrita: em outros trechos é ‘Macunaíma’ (1928), de Mário de Andrade, que ecoa em nossos ouvidos, pela escolha dos vocábulos e pela musicalidade do texto. Verunschk é também poeta, e sua escrita tem ritmo próprio: dá vontade de ler em voz alta, saboreando com vagar o andamento da linguagem.
Ainda que ecoe tantas vozes, o romance está ancorado no agora. Ele retoma um tempo de atrocidades e joga na cara do leitor a urgência de pensar o Brasil de hoje. Quem protegemos, quem deixamos morrer, a quem silenciamos. ‘Palavras podem ser armas dóceis’, alerta. Não aqui. No romance, as palavras reivindicam uma outra história, mirando o passado para ler o presente, sem condescendência ou vitimização. A narrativa fala de gente historicamente vista como bestial, selvagem e decaída: ‘Eram pássaros delicados, os brasis’. Como naturalistas, os homens de ciência que se fizeram viajantes sonhavam descrever a totalidade de elementos com que se deparavam. Entre o enamoramento diante da natureza e o desconforto frente aos habitantes do lugar, permitiam-se nomear, catalogar e dominar. Nesse contexto, um machado podia ser trocado por uma criança. É tudo mercadoria.
E dessa forma embarcam para o Velho Mundo os infantes brasileiros. Para esses seres extraviados, o exílio dói e o corpo padece com o frio e as moléstias desconhecidas. Então a morte surge como desfecho incontornável. Mas não nos enganemos, o grande felino ronda e ruge. Iñe-e, subtraída da família e entregue como presente pelo pai aos viajantes alemães, é uma menina-onça. Se a guerra, a cobiça e a luxúria são empreendimentos predominantemente masculinos, é nessa hora que o feminino se insurge, ecoando o lugar da onça como totem tribal da mãe. A ferocidade animal nos lembra que há momentos sem espaço para perdão ou conciliação. Então a presa vira predador, porque ‘justiça de onça se faz é no dente’.
A História é um triste desfile de barbárie e violência, e nesse quadro os indígenas são sujeitos engolidos e exibidos como butim dos exploradores. Na literatura de Verunschk, o berro da onça-menina se multiplica e, transformado em trovão, vira um basta: ‘Já viu como é que onça morde? (…) Quando chega no osso, aí é que ela aperta mais, e os dentões muito dos perfuradores vão nesse trabalho até alcançar os miolos, quebrando os ossos como se quebra um coco ou uma cabaça ao meio. É forte, viu?, a mordida da Dona’. Um viva à mordida e a esse assombroso romance.
butim: conjunto de bens materiais, escravos ou prisioneiros tomados do inimigo durante um ataque, uma batalha ou uma guerra.
Stefania Chiarelli é professora de literatura brasileira na UFF e coorganizou a coletânea ‘Falando com estranhos – O estrangeiro e a literatura brasileira’ (7Letras, 2016)

[…]
‘O som do rugido da onça’
Autor : Micheliny Verunschk. Editora : Companhia das Letras. Páginas : 168. Preço: R$ 54,90. Cotação: ótimo.
CHIARELLI, Stefania. ‘O som do rugido da onça’: um romance assombroso e com ferocidade animal. O Globo, [s. l.], 28 nov. 2021. Disponível em: https:// oglobo.globo.com/cultura/livros/o-som-do-rugido-da-onca-um-romance-assombroso-com-ferocidade-animal-24912424. Acesso em: 8 mar. 2024.
da resenha
De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, versão de 2018, página 503, é enfatizado que, no Ensino Médio, a área de Linguagens e suas Tecnologias desenvolva nos estudantes o aprofundamento das “análises das formas contemporâneas de publicidade em contexto digital, a dinâmica dos influenciadores digitais e as estratégias de engajamento utilizadas pelas empresas”. Dessa forma, todos os usos relacionados à publicidade, propaganda e formas de engajamento em redes sociais apresentadas nesta coleção são para fins didáticos e seus usos em contexto social.
1. Releia um trecho do primeiro parágrafo da resenha crítica.
São muitas as metamorfoses e renascimentos nesta narrativa – muda-se de país, de nome, de corpo.
2. a) O sentido daquilo que não se pode contornar, ou seja, que não se pode mudar.
Agora, copie o quadro a seguir no caderno para organizar as três metamorfoses que, de acordo com a resenhista Stefania Chiarelli, acontecem na narrativa de O som do rugido da onça.
Metamorfoses
País
Nome
O que ocorreu?
As crianças indígenas raptadas no Brasil são levadas para a Alemanha. Na Europa, Iñe-e se torna Isabella, e o menino de origem juri transforma-se em Johann.
Corpo

2. Releia outro trecho da resenha crítica.
Então a morte surge como desfecho incontornável .
A menina Iñe-e se transforma em onça.
2. b) Ao embarcarem os indígenas rumo à Europa, os dois cientistas alemães os expõem ao frio e a moléstias desconhecidas, fazendo com que a morte seja inevitável.
a) Qual sentido o adjetivo destacado acrescenta ao substantivo desfecho na frase?
b) De que maneira esse adjetivo se relaciona à morte das crianças indígenas na narrativa?
3. Ainda considerando o desfecho do romance de Micheliny Verunschk, responda às questões a seguir.
a) O que ocorre após a morte da menina indígena Iñe-e?
Ela se transforma em menina-onça.
b) Na opinião da resenhista, o perdão e a conciliação são sempre uma opção de desfecho para as histórias? Explique a sua resposta.
Não. De acordo com a resenhista, a ferocidade da menina-onça “nos lembra que há momentos sem espaço para perdão ou conciliação”.
4. Na resenha, o feminino e o masculino são colocados em oposição para analisar a narrativa de O som do rugido da onça. Na opinião da resenhista, quais elementos representam cada um?
A guerra, a cobiça e a luxúria representam o masculino, enquanto a onça representa o feminino.
5. Releia, a seguir, o trecho inicial do quarto parágrafo da resenha crítica.
Ainda que ecoe tantas vozes, o romance está ancorado no agora. Ele retoma um tempo de atrocidades e joga na cara do leitor a urgência de pensar o Brasil de hoje. Quem protegemos, quem deixamos morrer, a quem silenciamos.

5. b) A necessidade de olhar para as atrocidades cometidas no passado para pensar no Brasil de hoje e naqueles que precisam ser protegidos.
Respostas pessoais. Embora a resposta seja pessoal, espera-se que os estudantes percebam que essa lógica permanece preponderante no Brasil.
a) A resenhista tece uma opinião a respeito do romance e do seu alcance temporal. Qual é essa opinião?
A opinião apresentada pela resenhista é a de que, embora narre uma história do passado, o romance também reverbera na realidade atual do Brasil.
b) De acordo com a resenhista, qual necessidade atual o romance desvela?
6. Em sua opinião, a conclusão da resenhista de que “É tudo mercadoria” ainda é válida para a realidade atual do nosso país? Compartilhe a sua opinião com os colegas e procure citar exemplos que a sustentem.
7. A resenhista Stefania Chiarelli afirma que a escritora Micheliny Verunschk “ficcionaliza a história real de duas crianças indígenas” na narrativa. A ficcionalização de fatos históricos é uma prática literária de muitos romancistas – entre eles está José Saramago (1922-2010). Leia, a seguir, o trecho de dois artigos que abordam a ficcionalização na obra do escritor português.
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
O passado sempre exerceu uma espécie de fascinação sobre o homem, e é continuamente recriado ou reatualizado pela voz de um ficcionista ou de um historiador. No processo de escrita, ambos decidem o que é relevante ou não. Refazer o percurso, reinterpretar os fatos é penetrar numa zona marcada pela dúvida, pela incerteza, mesmo diante de documentos assinalados como autênticos.
TREVISAN, Ana Lúcia; ATIK, Maria Luiza Guarnieri. A ficcionalização da história em A viagem do elefante. Todas as Letras: Revista de Língua e Literatura, [s. l.], v. 12, n. 2, p. 11-19, 2010. p. 12. Disponível em: https:// editorarevistas.mackenzie.br/index.php/tl/article/view/2789. Acesso em: 6 set. 2024.
Segundo [o filósofo francês Paul] Ricoeur (2019), as relações estabelecidas entre História e ficção são complexas, servindo-se uma da outra para se completar e se complementar. Deste modo, a ‘história se serve de alguma maneira da ficção para refigurar o tempo, e em que, por outro lado, a ficção se serve da história com o mesmo intuito’ (p. 311-312). […]
O imaginário inserido nas lacunas históricas propicia uma oportunidade de remodelar aquilo que antes estava soterrado, não como verdade incontestável – uma vez que nem mesmo o historiador carrega mais consigo tal pretensão à verdade, quem dirá o poeta – e sim como o possibilis. Mediante esse processo é que se desencadeia a reconfiguração do passado histórico.
ADORNO, Karen Lorrany Neves. A ficcionalização da história em História do cerco de Lisboa, de José Saramago. Revista Investigações, Recife, v. 34, n. 1, p. 1-15, 2021. p. 4-5. Disponível em: https://periodicos.ufpe.br/revistas/index.php/INV/article/view/247368. Acesso em: 6 set. 2024.
7. a) O termo ficcionalização da história remete à prática literária de utilizar um fato histórico como insumo para a produção de uma obra ficcional. É importante que os estudantes percebam que, para isso acontecer, os escritores se utilizam de um extenso estudo de documentos e textos históricos. 7. b) No romance, Verunschk cria uma ficção com base em uma história real ocorrida no século XIX, quando duas crianças indígenas foram raptadas no Brasil e levadas para a Alemanha pelos cientistas Martius e Spix. 7. c) A semelhança reside no processo de escrita. Durante ele, tanto o ficcionista quanto o historiador decidem quais informações são relevantes ou não, ou seja, quais serão apresentadas ao leitor e quais permanecerão desconhecidas, promovendo-se, assim, uma reinterpretação dos fatos.

a) Com base em seu conhecimento prévio sobre o assunto e na leitura dos dois trechos, explique com as suas palavras o termo ficcionalização da história.
b) De que maneira a ficcionalização da história, abordada pelos dois trechos sobre a obra de Saramago, também está presente em O som do rugido da onça, de Micheliny Verunschk?
c) O Trecho I aponta uma semelhança entre o trabalho do ficcionista e o do historiador. Qual seria ela?
d) D e acordo com o Trecho II, o imaginário presente nas ficções possui uma importante função ao narrar fatos históricos. Qual seria essa função?
A função de remodelar uma narrativa que antes estava “soterrada”, escondida, criando a possibilidade de uma reinterpretação da verdade e a reconfiguração do passado histórico.
8. Uma importante parte da composição de uma resenha crítica é a sinopse que, no caso da resenha lida, é a síntese do enredo do romance O som do rugido da onça.
a) Após a leitura da resenha “‘O som do rugido da onça’: um romance assombroso e com ferocidade animal”, é possível ter uma noção do enredo da obra?
Resposta pessoal. É importante que os estudantes sintam liberdade para proferir a sua opinião, considerando a sinopse satisfatória ou não.
b) Em quais parágrafos da resenha há informações sobre o enredo da obra? O lugar no qual esse enredo aparece é importante para a compreensão do leitor?
c) Após a leitura da resenha, é possível ter uma noção do enredo da obra?
Resposta pessoal. É importante que os estudantes sintam liberdade para proferir a sua opinião, considerando a sinopse satisfatória ou não.
d) Qual é a função da sinopse na resenha crítica?
e) Além da sinopse, a resenha crítica apresenta a estrutura do romance. Qual é essa estrutura?
f) De que maneira essa estrutura auxilia a narrativa de O som do rugido da onça a apresentar o olhar de diferentes sujeitos da história?
Ao entrelaçar os relatos dos fatos tanto na perspectiva dos indígenas do povo miranha quanto na dos viajantes, o romance apresenta o olhar de diferentes sujeitos da história lado a lado, sem instituir uma hierarquia.
Embora a resenha crítica apresente uma sinopse da obra analisada, ela não pode ser confundida com outros dois gêneros textuais que fazem parte de sua composição: a sinopse e o resumo . Isso porque os resumos ou sinopses apresentam as informações principais de uma obra de forma concisa, enquanto as resenhas críticas – além de fazer isso – também se encarregam de oferecer ao leitor comentários apreciativos sobre a obra e argumentos capazes de sustentá-los.
8. b) No primeiro, no quinto e no sexto parágrafos, com predominância de informações no primeiro parágrafo. O lugar no qual o enredo aparece é importante para que o leitor possa compreender as apreciações a respeito da obra. Sem as informações básicas sobre o enredo, é difícil que essa compreensão aconteça.
8. d) Oferecer informações sobre o enredo da obra para que o leitor possa compreender as apreciações feitas sobre ela.
José de Sousa Saramago foi um importante escritor português. Destacou-se como romancista, teatrólogo, poeta e contista. Em 1947, publicou seu primeiro romance, Terra do pecado . Em 1995, recebeu o Prêmio Camões, o mais importante prêmio literário da língua portuguesa e, em 1998, o Prêmio Nobel de Literatura, tornando-se o primeiro autor de língua portuguesa a conquistá-lo.

■ Fotografia do autor em 2005.
8. e) O romance é estruturado em três blocos, que entrelaçam os relatos de origem indígena a trechos que reproduzem a visão dos viajantes, ou seja, dos cientistas alemães.

Inovações estéticas na literatura Macunaíma e O som do rugido da onça são obras que, cada uma a seu tempo, buscam apresentar inovações estéticas com o objetivo de valorizar elementos da cultura e da história brasileira. Enquanto, em Macunaíma , tais inovações têm por objetivo propor uma revisão dos valores da cultura nacional, em O som do rugido da onça , a proposta é apresentar outro ponto de vista a respeito de um fato histórico. Para construir suas narrativas, os dois autores fazem uso de musicalidade , termos indígenas e recursos de polifonia .
11. b) Espera-se que os estudantes considerem que a apresentação de trechos da obra pode atrair o leitor que gosta do estilo da escrita a consumi-la.
9. b) O romance surge da ficcionalização de um acontecimento histórico, por isso o fato de a resenha indicar que a escritora é também historiadora dá credibilidade a esse projeto.
9. A seguir, releia o trecho da resenha crítica que apresenta a autora Micheliny Verunschk ao leitor.
Sábias palavras de Isar, o rio-mulher, em ‘O som do rugido da onça’, quinto romance de Micheliny Verunschk. Nele, a escritora e historiadora ficcionaliza a história real de duas crianças indígenas.
a) Q uais informações sobre a formação profissional de Micheliny Verunschk o trecho apresenta?
Micheliny Verunschk é escritora e historiadora.
b) De que maneira a indicação dessa formação profissional pela resenha dá credibilidade ao tipo de romance que é O som do rugido da onça?
c) Além de apresentar a escritora, a resenha se preocupa em apresentar o conjunto de sua obra. De que maneira ela faz isso nesse trecho e ao longo de todo o texto?
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
d) De que maneira a apresentação do conjunto da obra de Micheliny Verunschk pode ser considerada uma estratégia argumentativa da resenha crítica?
O fato de já ter cinco livros publicados e ter sido premiada por um deles confere credibilidade à autora e à obra resenhada.
10. No terceiro parágrafo, após apresentar ao leitor a sinopse da obra e as informações sobre a sua autora, a resenha se dedica a analisar o estilo de escrita de Micheliny Verunschk, também como estratégia argumentativa para o leitor.
10. a) A resenha compara Verunschk a dois autores da literatura brasileira: João Guimarães Rosa e Mário de Andrade.
a) Qual recurso comparativo a autora da resenha utiliza para comentar o estilo da escritora pernambucana?
b) D e que maneira esse recurso comparativo pode ser utilizado para garantir que o leitor que eventualmente desconhece a autora perceba a sua relevância?
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
11. Para compor a resenha crítica, a resenhista cita trechos do romance O som do rugido da onça
11. a) Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor.
a) Copie o quadro a seguir no caderno. Observe o exemplo dado e, em seguida, organize as outras citações que aparecem no texto, completando com as informações solicitadas.
Citação
“Eu em nada creio, sou um rio. Eu vou e volto, conheço o chão e o céu, compartilho a língua comum a todas as águas. Atravesso o tempo. Morro e renasço. Engulo e regurgito. Sei dos animais tristes que são os homens.”
Parágrafo em que é apresentada
Função que exerce na resenha
1o parágrafo Apresentar a obra e dar início à resenha.
b) Qual é a importância da apresentação de trechos da obra resenhada para persuadir o leitor a consumi-la?
12. Releia o último parágrafo da resenha crítica e indique, no caderno, as alternativas falsas a respeito dele, corrigindo-as.

A História é um triste desfile de barbárie e violência, e nesse quadro os indígenas são sujeitos engolidos e exibidos como butim dos exploradores. Na literatura de Verunschk, o berro da onça-menina se multiplica e, transformado em trovão, vira um basta: ‘Já viu como é que onça morde? (…) Quando chega no osso, aí é que ela aperta mais, e os dentões muito dos perfuradores vão nesse trabalho até alcançar os miolos, quebrando os ossos como se quebra um coco ou uma cabaça ao meio. É forte, viu?, a mordida da Dona’. Um viva à mordida e a esse assombroso romance.
I. Butim é o conjunto de bens tomados em roubo ou caçada.
II. D e acordo com a resenhista, o berro da onça-menina é multiplicado, representando, portanto, outras pessoas exploradas.
III. A resenhista apresenta o depoimento de um especialista demarcado entre aspas para sustentar a sua opinião, utilizando, assim, o argumento de autoridade.
IV. Na última frase da resenha crítica, a resenhista deixa demarcada a sua opinião positiva em relação ao romance, reforçada pela palavra viva.
V. Na última frase da resenha crítica, a resenhista deixa demarcada a sua opinião a respeito: da ação do menino Johann na narrativa, da qualidade do romance e da atitude que despreza o perdão e se distancia da vitimização.
O gênero textual resenha crítica
A resenha crítica é um gênero textual que apresenta informações e avaliação acerca de uma produção normalmente relacionada ao universo cultural ou artístico. Por ser um gênero marcado pela expressão de opiniões e pela sinopse – ou resumo de informações acerca da obra – a resenha carrega uma duplicidade: ao mesmo tempo que apresenta um texto explicativo-expositivo também é identificada por suas características argumentativas, cujo objetivo é persuadir o leitor a conhecer e consumir a obra. A composição de uma resenha deve contar sempre com três elementos:
• a contextualização da obra resenhada, com informações como data de lançamento e autoria;
• a sinopse do enredo da obra ou a descrição do produto ou evento;
• a análise e os comentários apreciativos do resenhista, sustentados por argumentos.
13. Assim como em outros textos do campo jornalístico-midiático, a resenha crítica “‘O som do rugido da onça’: um romance assombroso e com ferocidade animal” apresenta uma linha fina.
a) Copie a linha fina da resenha no caderno.
b) A linha fina tem duas funções importantes: complementar o sentido do título e oferecer ao leitor novas informações. Uma linha fina bem escrita precisa cumprir pelo menos uma dessas funções. Isso ocorre na linha fina da notícia lida? Justifique a sua resposta.
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor.
c) Qual estratégia argumentativa é utilizada na linha fina para atrair o leitor que se interessa pelo assunto?
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
12. III. A resenhista apresenta um trecho do romance demarcado entre aspas para sustentar a sua opinião.
V. Na última frase da resenha crítica, a resenhista deixa demarcada a sua opinião a respeito: da ação da menina Iñe-e na narrativa, da qualidade do romance e da atitude que despreza o perdão e se distancia da vitimização.
13. a) “Com prosa que remete a Guimarães Rosa e Mário de Andrade, livro de Micheliny Verunschk parte da história real de duas crianças indígenas levadas para a Alemanha no século XIX”.

Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor.
O resenhista especialista
Uma resenha crítica satisfatória exige um processo de estudo e análise aprofundados da obra ou do produto que se pretende avaliar. É importante que o resenhista não formule seus comentários apreciativos com base em seu gosto pessoal, mas sim em critérios que respeitem tanto o conhecimento técnico acerca da obra ou do produto quanto seu público-alvo . Por isso, é comum que os veículos jornalísticos convidem especialistas na área a qual a obra ou o produto resenhado pertence, conferindo-se, assim, credibilidade aos comentários acerca do objeto resenhado.
De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, versão de 2018, página 503, é enfatizado que, no Ensino Médio, a área de Linguagens e suas Tecnologias desenvolva nos estudantes o aprofundamento das “análises das formas contemporâneas de publicidade em contexto digital, a dinâmica dos influenciadores digitais e as estratégias de engajamento utilizadas pelas empresas”. Dessa forma, todos os usos relacionados à publicidade, propaganda e formas de engajamento em redes sociais apresentadas nesta coleção são para fins didáticos e seus usos em contexto social.
15. a) Ao apresentar as principais informações da obra de maneira condensada, a resenha visa ajudar o leitor a encontrar a obra caso queira consumi-la.
14. Ao final de uma resenha crítica, é comum que informações sobre o resenhista sejam apresentadas.
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
a) Que informações sobre a resenhista são apresentadas no texto lido?
b) De que maneira as informações a respeito da resenhista contribuem para a credibilidade do texto que produziu?
c) Leia, a seguir, uma sinopse do livro organizado por Stefania Chiarelli e depois responda: qual é a relação dele com o romance O som do rugido da onça?
Histórias de deslocamento e errância já renderam obras clássicas da literatura. Falando com estranhos: o estrangeiro e a literatura brasileira revitaliza essa linhagem de narrativas e abre espaço para pensar o estrangeiro na cultura brasileira. Contemplando personagens que se encontram à margem e fora do discurso essencialista da nação, os artigos aqui reunidos pensam a noção de estrangeiridade tendo como lugares teóricos categorias como memória, trânsito e exílio. [ ]
FALANDO com estranhos. [São Paulo]: Amazon, 1 jan. 2016. Sinopse. Grifo nosso. Disponível em: www.amazon.com.br/Falando-Estranhos-Estrangeiro -Literatura-Brasileira/dp/8542104277. Acesso em: 7 set. 2024.
15. Ao final de uma resenha crítica, é comum que as informações principais da obra analisada sejam apresentadas. Veja como isso foi feito na resenha lida.
Autor : Micheliny Verunschk. Editora : Companhia das Letras. Páginas: 168. Preço: R$ 54,90.
Cotação: ótimo.
a) Qual é a função de apresentar essas informações ao leitor?
b) A cotação, isto é, a valoração atribuída à obra, está de acordo com o que é apresentado no texto da resenha crítica? Justifique sua resposta.
16. Agora, compartilhe com os colegas as impressões sobre as questões a seguir.
16. a) As resenhas críticas também cumprem o papel de divulgar o lançamento dessas obras, facilitando que encontrem seu público.
a) Qual é a importância da publicação de resenhas críticas sobre obras culturais e artísticas?
b) Como a resenha pode atuar de forma negativa para a recepção do público?
Caso a apreciação do resenhista seja negativa, isso pode desincentivar o público a consumir a obra.
c) Após a leitura da resenha do livro O som do rugido da onça, você sentiu vontade de ler o livro? Por quê?
Respostas pessoais. Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor.
A função da resenha crítica
O público leitor das resenhas críticas costuma ser formado por pessoas que pretendem conhecer mais sobre determinada obra ou produto cultural ou artístico, inclusive para decidir se irão consumi-la. Há também leitores que chegam à resenha após consumir a obra ou o produto, muitas vezes para compreendê-la com maior profundidade ou verificar se a opinião do resenhista combina com a sua. De qualquer modo, a relação desse gênero com o público revela a sua função, que é a de incentivar ou desaconselhar o leitor a conhecer uma obra ou produto, muitas vezes aumentando ou diminuindo o interesse por uma produção.
15. b) Sim, a avaliação apresentada é condizente ao texto da resenha. Se julgar necessário, retome as atividades anteriores de maneira que os estudantes revejam os comentários apreciativos positivos feitos sobre a obra.
18. c) No Trecho I, assombroso confere ao romance características de mistério e surpresa. No Trecho II, assombroso, anteposto ao substantivo, indica uma apreciação positiva da autora da resenha sobre o romance. Comente com os estudantes que, no Trecho I, a forma de construção do adjetivo posposto indica um caráter mais descritivo, enquanto o Trecho II constrói um julgamento de valor em relação ao romance.
Como abordado anteriormente, os adjetivos auxiliam na construção de caracterizações ou na classificação dos termos a que se referem. Analise, agora, esses efeitos de sentido na construção da resenha lida nesta seção.
17. Releia o trecho a seguir.

Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor.
A história é um triste desfile de barbárie e violência […].
a) A que substantivo o adjetivo triste se refere?
Refere-se ao substantivo desfile
b) Copie, no caderno, a afirmação correta sobre a posição desse adjetivo no trecho.
I. A posição do adjetivo no texto interfere em seu sentido, já que, estando anteposto ao substantivo, como em triste desfile, ele assume um caráter apreciativo, enquanto, se estivesse posposto ao substantivo, desfile triste, o adjetivo assumiria um sentido descritivo desse sentimento.
II. A posição do adjetivo no texto interfere em seu sentido, já que, estando anteposto ao substantivo, como em triste desfile, ele assume um caráter descritivo, enquanto, se estivesse posposto ao substantivo, desfile triste, o adjetivo assumiria um sentido apreciativo desse sentimento.
A afirmação correta é a I.
18. Releia o título e a última frase da resenha.
I. ‘O som do rugido da onça’: Um romance assombroso e com ferocidade animal
II. Um viva à mordida e a esse assombroso romance.
18. a) O adjetivo assombroso se refere ao substantivo romance; e o adjetivo animal se refere ao substantivo ferocidade
a) Quais são os adjetivos do título (Trecho I) e a qual(is) substantivo(s) eles se referem?
b) O emprego desses adjetivos logo no título tem uma intencionalidade que se relaciona ao conteúdo do romance resenhado. Explique essa intenção e essa relação.
c) O adjetivo assombroso não tem o mesmo sentido nos trechos I e II. Explique essa afirmação considerando a posição em que estão no texto.
19. Releia o seguinte trecho da resenha.
19. b) Atribui aos homens um caráter de especialistas, pessoas confiáveis que estão a serviço da ciência.
A narrativa fala de gente historicamente vista como bestial, selvagem e decaída: ‘Eram pássaros delicados, os brasis’. Como naturalistas, os homens de ciência que se fizeram viajantes sonhavam descrever a totalidade de elementos com que se deparavam.
a) Qual é a característica associada aos homens no trecho?
A característica associada é serem de ciência.
b) Que sentido essa característica atribui aos homens, em relação ao contexto do trecho?
c) Copie, no caderno, as informações corretas sobre o trecho lido, analisando as intencionalidades da autora em relação aos adjetivos empregados.
I. Ao empregar os adjetivos bestial, selvagem e decaída em relação a gente, a autora retoma um juízo de valor coletivo e histórico sobre os indígenas.
II. Ao apresentar um trecho do livro entre aspas, que associa os brasis a pássaros delicados, esse adjetivo empregado se contrapõe aos juízos de valor apresentados antes dos dois-pontos, promovendo um contraponto argumentativo.
III. O emprego do trecho entre aspas confere ao período um exemplo de que os indígenas eram vistos como uma gente bestial, selvagem e decaída, associando-a a pássaros delicados de modo a animalizá-los.
19. c) A resposta correta é a III. Comente com os estudantes as intencionalidades argumentativas de cada inserção desses adjetivos.
Locução adjetiva
Trata-se do uso de duas ou mais palavras ou expressões – geralmente uma preposição e um substantivo – que assumem a função de adjetivo no lugar do próprio adjetivo. Por exemplo: “De como foi levada mar afora para uma terra de inimigos .” = inimiga
18. b) A intenção é despertar a atenção do leitor em relação à história por meio de uma caracterização. Desse modo, assombroso confere um sentido de mistério e surpresa ao romance, enquanto animal confere uma apreciação que se aproxima do selvagem, feroz, que foge do civilizado.
1. a) Parabenizar a autora Micheliny Verunschk pelo tema do livro O som do rugido da onça e pelo prêmio que ela recebeu.
1. b) Sim, é possível perceber que Marina Silva tem a mesma apreciação positiva. Os elementos são: a menção ao Prêmio Jabuti 2022 recebido pela obra e os cumprimentos à autora e ao tema escolhido.
1. c) Respostas pessoais. Marina Silva é historiadora, professora, psicopedagoga, ambientalista e política brasileira; atuou como ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Brasil, no governo Lula de 2023, cargo que exerceu anteriormente entre 2003 e 2008.
A resenha crítica é um texto do campo jornalístico-midiático por meio do qual o resenhista registra as suas opiniões acerca de uma obra ou um produto cultural ou artístico. No entanto, existem outros meios de se divulgar uma obra e a opinião sobre ela, alguns inclusive permitem que o leitor ou espectador compartilhe suas impressões. Com o avanço da internet, as mensagens eletrônicas em redes sociais têm cumprido esse papel.

Leia, a seguir, uma mensagem eletrônica escrita por Marina Silva (1958-) sobre o romance O som do rugido da onça.
1. d) Marina Silva tem uma trajetória política marcada pela defesa aos povos indígenas e ao meio ambiente, temas que perpassam a obra.
1. O registro de reações do público pode ser tão importante para a divulgação de uma obra quanto a publicação de uma resenha crítica.
a) Qual foi a intenção de Marina Silva ao publicar a mensagem eletrônica?
b) Ao ler a mensagem de Marina Silva, é possível afirmar que ela compartilha da mesma opinião da resenhista Stefania Chiarelli? Quais elementos da mensagem ajudam a justificar a sua resposta?
c) Marina Silva é uma pessoa pública. Você a conhece? Faça uma pesquisa sobre a sua trajetória e compartilhe as informações colhidas com os colegas.
d) De que maneira a trajetória de Marina Silva está conectada ao enredo de O som do rugido da onça?
e) Como a reação de uma leitora como Marina Silva pode influenciar outros leitores?

pela Ministra Marina Silva em rede social (2022).
1. e) A depender da opinião que outros leitores possuem a respeito da trajetória de Marina Silva, a sua reação positiva em relação à obra pode incentivar ou desestimular a leitura.
É comum que as postagens em redes sociais obedeçam às limitações das plataformas nas quais são publicadas. Na época, a mensagem eletrônica de Marina Silva foi publicada em uma rede social que continha algumas limitações técnicas impostas ao usuário: as mensagens podiam conter até 280 caracteres e até quatro fotografias, um gif ou um vídeo.
• Pensando na influência que uma mensagem eletrônica como a de Marina Silva pode acarretar à indicação de um livro, em sua opinião, ela foi eficiente em seus elogios? Você teria utilizado o espaço para ressaltar outras características do romance? Respostas pessoais. Motive os estudantes a compartilhar suas opiniões livremente, incentivando-os a recordar as características positivas do romance indicadas na resenha crítica que leram.

Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor.
Acontecimentos são expressos na língua por meio de sua organização no tempo e no espaço. Nesta seção, o estudo foca a classe morfológica que faz referência às ações: os verbos. Com base nos textos lidos no capítulo, será possível analisar os efeitos de sentido das escolhas verbais para as ações apresentadas, bem como compreender a estruturação dos tempos, especialmente no modo indicativo.
1. Releia o período que inicia o trecho lido de O som do rugido da onça
Esta é a história da morte de Iñe-e. E também a história de como ela perdeu o seu nome e a sua casa.
a) Que palavras no trecho expressam ações ou estados?
b) Quanto à intenção, essas palavras expressam afirmação, hipótese, ordem ou possibilidade?
c) A quem elas se referem?
d) A narrativa ocorre no presente, no passado ou remete a um futuro? É: estado; perdeu: ação.
Afirmação. O verbo ser, à história; e o verbo perder, a Iñe-e.
No presente. Comente com os estudantes que a narração começa no presente e afirma ser a história que está sendo contada, essa sim ocorrida no passado.
Verbos
De modo geral, verbos são palavras que expressam acontecimentos no tempo. Esses acontecimentos podem ser ações, processos, estados ou manifestações de fenômenos da natureza. Os verbos podem variar em número, pessoa, modo, tempo e aspecto.
Eles também podem assumir as formas nominais: infinitivo, gerúndio e particípio.
A variação verbal está representada em sua estrutura morfológica, ou seja, em sua forma. Observe o esquema a seguir com o exemplo do verbo perder.
Radical: é a parte mínima que carrega o significado da ação.
Desinência de modo e tempo: indica o modo e o tempo em que o verbo está flexionado. Nesse caso, modo indicativo e tempo pretérito perfeito.
perderam
Vogal temática: identifica a conjugação a que pertence o verbo: 1ª, 2ª ou 3ª. Ela faz a ligação entre o radical e as desinências.
Desinência de pessoa e número: indica a pessoa e o número em que o verbo está flexionado. Nesse caso, terceira pessoa do plural
Essa atribuição de desinências que expressam o modo, o tempo, o número e a pessoa do verbo são as chamadas flexões. Em outras palavras, um verbo é flexionado por um falante com base na atribuição de desinências à sua forma básica, com a intenção de expressar estado, ação ou processo em determinado modo, atribuindo-o a determinada pessoa e ocorrido em um certo tempo.

É possível perceber o padrão do presente para expressão da voz narrativa; dos pretéritos para expressão das ações da história narrada; e das formas nominais para ocultação dos sujeitos das ações e atribuição de foco às ações sofridas pela personagem principal.
Essa intencionalidade é expressa pelos modos verbais , que agrupam os tempos conforme indicações de certeza, suposição, dúvida, ordem, entre outras.
Observe o esquema a seguir.
Indicativo
Modos verbais
Imperativo
Subjuntivo
Os verbos nesse modo expressam certezas, afirmações e fatos sobre o sujeito da ação.
Os verbos nesse modo expressam ordens, pedidos ou possibilidades de ação em relação a um interlocutor.
Os verbos nesse modo expressam dúvidas, desejos e hipóteses de ação a serem realizadas em um futuro.
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor
2. Volte ao capítulo lido de O som do rugido da onça e releia o primeiro parágrafo. Em seguida, identifique os verbos ou locuções verbais de cada período e o modo a que eles se referem.
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor.
3. Você e um colega vão copiar o quadro a seguir no caderno e preenchê-lo com os verbos identificados no item anterior; além disso, vão indicar os tempos em que estão flexionados e os efeitos de sentido no trecho da narrativa. Para os verbos que estiverem na forma nominal, indique apenas o efeito de sentido. Observe o modelo a seguir.
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
Forma verbal Tempo
Efeito de sentido no contexto da narrativa É
Presente
Anuncia, no presente, a contação de uma história.
4. A autora da resenha escolhe modos e tempos verbais de forma intencional. Retome o quadro elaborado no item anterior e, ainda com o colega, busque padrões, ou seja, tempos verbais e efeitos de sentido que se repetem entre essas escolhas para explicá-las em relação à construção da narrativa.
Modo indicativo e seus tempos
No modo indicativo, o interlocutor expressa certeza sobre o que diz, seja em relação ao presente, ao passado ou a um futuro. Os tempos do indicativo são: presente, pretérito e futuro.
Veja exemplos de conjugações verbais nos tempos do modo indicativo nos quadros a seguir.
Tempo
Aspecto
Exemplo
Presente
Expressa ações que acontecem no momento, quando se fala.
Eu perco
Tu perdes
Ele perde
Nós perdemos
Vós perdeis
Eles perdem
Tempo
Aspecto

Exemplo
Imperfeito
Expressa ações que têm uma durabilidade em desenvolvimento no passado como habituais.
Eu perdia
Tu perdias
Ele perdia
Nós perdíamos
Vós perdíeis
Eles perdiam
Tempo
Aspecto
Exemplo
Pretérito
Perfeito
Expressa ações finalizadas por completo no passado.
Eu perdi
Tu perdeste
Ele perdeu
Nós perdemos
Vós perdestes
Eles perderam
Futuro do presente
Expressa ações que ocorrerão com um grau de probabilidade maior no futuro.
Eu perderei
Tu perderás
Ele perderá
Nós perderemos
Vós perdereis
Eles perderão
Futuro
Mais-que-perfeito
Expressa ações que ocorreram em um passado anterior ao passado de que se fala.
Eu perdera
Tu perderas
Ele perdera
Nós perdêramos
Vós perdêreis
Eles perderam
Futuro do pretérito
Expressa ações que poderiam ter acontecido em um passado.
Eu perderia
Tu perderias
Ele perderia
Nós perderíamos
Vós perderíeis
Eles perderiam
O aspecto do verbo tem a ver com a durabilidade da ação no tempo, como concluída ou não concluída. No entanto, esse conceito pode ser ampliado para abranger valores semânticos de significado) pertinentes ao próprio verbo, aos seus auxiliares ou ao contexto. Observe o esquema a seguir.
Durativo
Maior ou menor período de tempo usado na ação verbal.
Aspectos verbais
Modo como o processo de ação do verbo se desenvolve.
Incoativo ou inceptivo
Conclusivo ou terminativo
Pontual
Contínuo
Descontínuo
Processo em sua fase inicial
Processo em sua fase final
Continua lendo o livro.
Voltei a ler o livro.
Estou lendo o livro .
Voltei a ler o livro.
Começou a leitura.
Acabou a leitura.

O sentido é de que a vida pode ter altos e baixos em relação à alegria, o que é comum, embora dê a sensação de vazio diante de um mundo que é incompleto, mas estar presente nos momentos pode ser uma estratégia para fazê-los mais alegres, o que desafia essa incompletude do mundo. Ao mesmo tempo, o jogo de palavras entre a forma verbal coloro, na primeira pessoa do singular do presente do modo indicativo, é uma forma não usual desse verbo, considerado defectivo.
5. Agora, releia este trecho da resenha sobre o livro e observe as formas verbais destacadas. Dois séculos depois, a visão de um quadro das crianças em uma exposição irrompe na vida de Josefa, cujo destino será impactado por esse encontro inesperado, iniciando uma busca por sua origem mestiça. São muitas as metamorfoses e renascimentos nesta narrativa – muda-se de país, de nome, de corpo.
a) Nesse trecho, a autora da resenha constrói a sinopse do livro. Em que tempo verbal do indicativo estão as formas verbais destacadas?
b) Considerando que essa foi uma ação já ocorrida, qual é o propósito da escolha desse tempo verbal para a construção narrativa?
No presente. A escolha tem como propósito aproximar o leitor do momento narrado, ainda que ele já tenha acontecido no passado. Comente com os estudantes que essa estratégia é chamada de presente histórico.
6. Leia a tira a seguir e responda às questões.
6. b) Está usado no sentido de “presença”, “estar presente”, e no sentido do tempo cronológico.

GOMES, Clara. [Colorir é lutar até cair]. Bichinhos de Jardim. [S l.], 9 dez. 2019. Disponível em: https://bichinhosdejardim.com/colorir-lutar-cair/. Acesso em: 7 set. 2024.
a) E xplique a seguinte afirmação: a tira atribui ao ato de colorir um significado além de pintar com cores.
O sentido é figurativo e se relaciona a tornar o dia mais alegre, mais brilhante e expressivo.
b) A palavra presente, no terceiro quadrinho, é usada em duplo sentido. Explique esses sentidos.
c) Defectivo, utilizado como adjetivo de mundo no quarto quadrinho, tem duas acepções possíveis no dicionário. Observe.
1. Em que falta alguma coisa; INCOMPLETO; IMPERFEITO [Antôn.: completo, perfeito.]
2. Gram. Diz-se de verbo que não se conjuga em todas as formas normalmente possíveis […].
DEFECTIVO. In: AULETE, Francisco J. Caldas; VALENTE, Antonio Lopes dos Santos. Aulete digital. Rio de Janeiro: Lexikon Editora Digital, [202-]. Disponível em: https://aulete.com.br/defectivo. Acesso em: 7 set. 2024.
• Considerando essas acepções e a conjugação do verbo colorir, explique o sentido da tirinha.
Classificação dos verbos
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor.
Os verbos são classificados quanto à sua função e quanto à sua flexão. Leia as definições no esquema a seguir.
Principal
Quanto à função
Auxiliar
É o verbo de significação principal, o foco da ação.
É o verbo que acompanha o verbo principal na formação dos tempos compostos e das locuções verbais.
Exemplo: Li o livro.
Exemplos: Ele havia comprado um livro. Tenho lido o livro.
Quanto à flexão

Regular Irregular
Defectivo Abundante
Conjuga-se de acordo com o modelo mais comum para o modo e o tempo, usando-se as desinências do formato.
Conjuga-se longe do modelo comum, com formatos diversos, inclusive de seu radical.
Algumas flexões desses verbos não existem. Fenômenos da natureza se encaixam nesse grupo.
Verbos que apresentam mais de uma forma para determinada flexão. Essas formas, geralmente, ocorrem no particípio.
Exemplos: cantar, comer, partir.
Exemplos: estar, ser, pedir.
Exemplos: chover, abolir, falir.
Exemplos: foi aceito, tinha aceitado.
7. Releia um trecho da resenha “‘O som do rugido da onça’: um romance assombroso e com ferocidade animal” e, em seguida, copie as afirmações corretas no caderno.
Estão corretas as afirmações I e III.
Sábias palavras de Isar, o rio-mulher, em ‘O som do rugido da onça’, quinto romance de Micheliny Verunschk. Nele, a escritora e historiadora ficcionaliza a história real de duas crianças indígenas. Raptadas no Brasil, foram levadas para a Alemanha no século XIX pelos cientistas alemães Von Martius e Von Spix. Na Europa, Iñe-e, do povo miranha, vira a triste Isabella, e um menino, de origem juri, transforma-se em Johann.
I. Raptadas e foram levadas são formas verbais cuja ação expressa foi sofrida pelas crianças; portanto, retoma-as como referentes.
II. A forma verbal ficcionaliza se refere ao romance O som do rugido da onça; por isso, é uma ação sofrida pelo romance.
III. A forma verbal vira se refere a uma ação praticada por Iñe-e, portanto ela é o sujeito dessa ação. Já a forma verbal transforma-se se refere ao menino, em uma ação reflexiva em que o sujeito pratica e sofre a ação.
Vozes verbais
As vozes verbais são associadas à forma como o sujeito se expressa através do verbo. Essa forma pode ser ativa , passiva ou reflexiva . Observe o quadro a seguir.
Vozes verbais
Voz ativa
Voz passiva
Voz reflexiva
Definição
Exemplo
O sujeito pratica a ação do verbo. A autora escreveu o livro.
Evidencia quem sofre ou recebe a ação.O livro foi escrito pela autora.
O sujeito realiza e sofre ou recebe a ação praticada concomitantemente. Há sempre um pronome oblíquo que acompanha o verbo.
A autora preocupou-se em terminar a escrita.
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor
8. Releia este trecho da postagem de Marina Silva sobre a premiação do livro O som do rugido da onça Há ideias que complementam o sentido do verbo nesta oração. Quais são elas?
O Prêmio Jabuti 2022 escolheu o livro O Som do Rugido da Onça como Melhor Romance Literário.
As ideias expressas em “o livro O Som do Rugido da Onça como Melhor Romance Literário”.
As classes de palavras que a morfologia denomina são agrupamentos de acordo com a forma que a palavra assume e sua função expressiva. Os níveis de análise, no entanto, coexistem; por isso, uma classe de palavras (nível morfológico) pode ser analisada com outra funcionalidade quando observada na função que exerce na estrutura de uma oração (nível sintático). Por exemplo, um verbo (nível morfológico) pode constituir parte de um predicado (nível sintático). Um substantivo (nível morfológico) pode ser parte de um sujeito, quando aparece como núcleo, ou de um complemento, quando funciona como determinante de outro substantivo, assumindo a função de adjunto adnominal (nível sintático).

Sintagma verbal
No nível sintático, os verbos operam como parte de um sintagma verbal , ou seja, como parte mínima de uma oração – assim como o sintagma nominal, mas cujo núcleo é um verbo, determinado por outras palavras que o especificam e o complementam. Observe este esquema de exemplo.
O Prêmio Jabuti 2022
Sintagma nominal
escolheu o livro O som do rugido da onça como melhor Romance Literário
Sintagma verbal
Determinante
Nome (núcleo) Determinante
Verbo
O O Prêmio Jabuti 2022
complemento O som do rugido da onça como melhor Romance Literário.
escolheu o livro
Determinante
Sintagma nominal
Modificador Nome Nomes
livro O som do rugido da onça
melhor Romance Literário
Locuções verbais para expressão do futuro
A língua muda de acordo com o uso que os falantes fazem dela. Esse processo, no entanto, não é rápido e depende de recorrência e constância no uso de algumas formas. Por isso, na língua portuguesa, os itens das classes gramaticais podem passar por processos de gramaticalização, que consistem em assumir um novo papel na organização do discurso, podendo mudar de categoria gramatical.

1. a) A mensagem é que, mesmo diante de desmotivações que possam vir de pessoas ao redor, em uma situação da vida, deve-se acreditar em si mesmo e permanecer no propósito que se tem.
1. Leia esta tirinha de Armandinho e responda às questões a seguir.
1. b) Respostas pessoais. Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
ARMANDINHO. [Nunca pare de tentar]. [S l.], 21 mar. 2017. Facebook: tirasarmandinho. Disponível em: https://www.facebook.com/tirasarmandinho/photos/a.488361671209144.113963.4 88356901209621/1489993617712606/?type=3&theater. Acesso em: 7 set. 2024.
a) Qual é a mensagem que a tirinha transmite?
b) Você já vivenciou situações como a narrada pelo menino? Como você lidou com ela?
c) No primeiro quadrinho da tira, há uma construção que introduz a ideia de futuro. Que estrutura é essa e como ela é formada?
A estrutura é vai ouvir. Ela é formada pelo verbo ir conjugado no presente do indicativo + verbo principal no infinitivo.
d) A estrutura que você identificou é uma locução verbal. Por que o autor da tira usa a locução no lugar do verbo conjugado?
1. d) Respostas possíveis: Para aproximar a fala do personagem da oralidade; por uma preferência.
Há uma preferência, no português brasileiro, pelo futuro perifrástico, que consiste no uso do verbo ir conjugado no presente do indicativo + o verbo principal no infinitivo – vou fazer. Essa forma tende a substituir o futuro do presente – nesse caso, farei.
Na década de 1920, o gramático Manuel Said Ali Ida (1861-1953) comentou sobre o uso do futuro perifrástico, como uma alternativa para expressar locomoção, desejo de realizar algo ou um fato que ocorrerá em um futuro bem próximo do ato de enunciação.
Em 1967, o linguista Joaquim Mattoso Câmara Jr. (1904-1970) defendeu que esse formato tinha como objetivo assinalar uma atitude de impulso e intenção do falante em demarcar uma ação que ocorrerá de forma contínua em um futuro próximo.
Na edição mais recente da gramática publicada pelos gramáticos Celso Cunha (1917-1989) e Luís Filipe Lindley Cintra (1925-1991), datada de 2021, o sentido de futuro imediato é mantido e, ainda, relacionado à língua falada.
2. O sentido de ação futura com certa continuidade no tempo.
2. Qual sentido do emprego do futuro perifrástico pode ser compreendido no contexto da tira?
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor
Nesta seção, você vai produzir a resenha crítica de um livro literário ou de uma graphic novel que considera ser o seu favorito ou favorita.

Gênero
Interlocutores
Resenha crítica Colegas da turma
Propósito/finalidade
Incentivar os colegas a se interessarem pela leitura da sua obra favorita.
Publicação e circulação
Textos devem ser compartilhados com a turma.
1. É importante que todos os estudantes da turma respondam oralmente ao item a. Ainda mais importante é que os diferentes gostos, interesses e opiniões sejam respeitados e apreciados.
1. Nesta Oficina de Texto, a motivação para iniciar a produção de resenha proposta envolve o compartilhamento de gostos, além de ter a intenção de despertar o interesse dos colegas e identificar afinidades e curiosidades em comum.
a) Compartilhe com a turma o seu livro literário ou sua graphic novel favorita. Para isso, procure responder às questões a seguir a respeito da obra escolhida.
• Qual é o título e de quem é a autoria?
• Quantas páginas tem?
• É p ossível encontrar o livro ou a graphic novel na biblioteca da escola ou em bibliotecas públicas da região?
• Qual é o enredo?
• Em sua opinião, por que os colegas de turma deveriam ler a obra? Utilize pelo menos três argumentos para sustentar a sua indicação.
b) Para se preparar para a apresentação da sua obra favorita, faça um registro escrito com base nas questões listadas no item anterior e procure retomá-lo durante a apresentação oral.
c) Pesquise em veículos jornalísticos confiáveis ou em vídeos de influenciadores literários conhecidos pela credibilidade dos textos apreciativos que produzem a respeito de obras literárias e artísticas, se possuem uma resenha ou vídeo sobre a obra escolhida por você. Anote a referência utilizada e identifique se a apreciação é positiva ou negativa. No caderno, faça uma lista dos argumentos utilizados pela fonte escolhida para indicar ou não a obra.
1. Para dar início ao planejamento do seu texto, procure organizar as informações que irão compô-lo seguindo estes passos.
• Escreva, no caderno, em um ou no máximo dois parágrafos, a sinopse do enredo da obra.

• Retome a sua obra preferida e busque por trechos que você pode citar na sua resenha com o objetivo de sustentar e conferir consistência ao posicionamento defendido. Escreva as citações escolhidas no caderno.
• Caso tenha escolhido uma graphic novel, procure escanear e imprimir uma ou duas páginas com quadrinhos considerados marcantes para ilustrar o seu texto.
• Faça uma pesquisa sobre o autor da obra, procurando saber se escreveu outros livros e se recebeu prêmios por eles. Também procure pesquisar se a obra escolhida por você é premiada.
• Faça uma pesquisa sobre o contexto em que a obra foi publicada: ano, país, acontecimentos da época possivelmente relacionados a ele.
• Escreva, no caderno, as mesmas informações contidas ao final da resenha lida na seção Estudo do Gênero Textual. Recupere a lista de argumentos elaborada na etapa Motivar a criação para compor a resenha.
2. Para elaborar a introdução da resenha, procure utilizar ao máximo as informações da sinopse. Lembre-se de que é importante que o leitor compreenda a obra para então receber as apreciações acerca dela. Informações menos relevantes do enredo podem ser apresentadas ao longo do texto.
3. Ao longo da resenha, procure apresentar as informações acerca do contexto no qual a obra foi lançada. Faça o mesmo processo com as informações sobre a autoria. Esses dados também podem ser utilizados de maneira a convencer o leitor a seguir sua indicação de leitura.
4. Avalie as citações colhidas e decida quais devem entrar e quais devem ser descartadas. É importante que elas sejam usadas para angariar a atenção do leitor para o estilo de autoria e a obra em si. Reflita sobre os melhores lugares da resenha para encaixar as citações selecionadas. A exemplo da resenha crítica que você leu na seção Estudo do Gênero Textual, escolha uma citação que apresente a obra e seja capaz de angariar a atenção do leitor para dar início ao primeiro parágrafo.
5. Como a resenha crítica é sobre a sua obra predileta, espera-se que a apreciação a respeito dela seja positiva e que os argumentos apresentados sustentem a indicação do livro. Lembre-se de aplicar essas informações na resenha para que sustentem a indicação de leitura.
RETOMADA
Ao longo do texto, dê atenção ao uso estratégico não só dos adjetivos, mas também dos verbos . Quanto a estes, considere o propósito e o sentido de uso de cada tempo verbal para a construção da narrativa, bem como das formas nominais quando a intenção for dar enfoque ao fato e não ao sujeito. Pense também no aspecto verbal e no caráter durativo da ação desse verbo no tempo. Todos esses elementos constroem, com base em recursos linguísticos, a expressividade de sua resenha.

6. Componha um título e uma linha fina capazes de atrair para leitura da resenha. Procure utilizar adjetivos que expressem apreciação, posicionados estrategicamente antes dos substantivos a que se referem.
7. Ao final do texto, coloque uma minibiografia do resenhista capaz de convencer o leitor sobre a opinião proferida. Para ajudar nessa missão, procure responder às questões: por que eu sou uma pessoa indicada para sugerir a leitura da obra? De que maneira ela faz parte dos meus gostos e interesses?
8. Organize um quadro ao final do texto com as informações resumidas e a cotação proferida.
9. Por fim, escolha uma fotografia para ilustrar a sua resenha. Verifique qual imagem pode chamar mais a atenção do leitor: a do autor ou autora ou a da capa da obra?
10. Procure utilizar softwares gratuitos para digitar o seu texto e editá-lo junto à imagem escolhida.
1. Leia as questões a seguir e utilize-as como roteiro para avaliação e reedição da resenha crítica.
• A linha fina complementa o sentido do título ou apresenta novas informações?
• O leitor consegue ter noção do enredo da obra logo no início do texto?
• Informações sobre a autoria da obra são apresentadas de maneira a favorecer a opinião positiva a respeito dela?
• O contexto de lançamento da obra é apresentado?
• As citações colhidas estão idênticas ao texto original?
• Ao menos três argumentos a favor da obra foram utilizados?
• A minibiografia do resenhista foi apresentada, assim como a cotação?
As resenhas produzidas devem ser entregues ao professor responsável. Juntamente com o restante da turma, decida a melhor estratégia para fazer a apresentação dos textos. Em um dia combinado, reúna-se com a turma em círculo e compartilhe as impressões acerca da leitura das resenhas dos colegas. Considere o processo de produção do texto, desde a etapa do planejamento até o compartilhamento, e discuta com os colegas sobre os desafios de elaborar uma resenha crítica. Além disso, procure responder à seguinte pergunta: a leitura da resenha crítica aumentou o meu interesse em conhecer a obra indicada?

Neste capítulo, a seção Estudo Literário se voltou para a análise de um capítulo do romance O som do rugido da onça, de Micheliny Verunschk, e a maneira como a ficção consegue ressignificar acontecimentos históricos de um ponto de vista crítico. Você também estudou como esse movimento acontece no romance moçambicano A confissão da leoa, de Mia Couto. Em ambos os casos, foram analisadas algumas características do romance contemporâneo, como a existência de muitas vozes narrativas. Na seção Estudo do Gênero Textual, foram exercitadas a análise e a produção do gênero resenha crítica. Na seção Estudo da Língua, esses textos foram retomados para a investigação dos verbos do modo indicativo. Agora, chegou o momento de sintetizar essas aprendizagens. Para tanto, procure responder com suas palavras às questões a seguir. Se necessário, releia alguns dos conceitos estudados.
1. De que forma as múltiplas vozes narrativas contribuem para a construção da personagem Iñe-e em O som do rugido da onça?
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor.
2. Cite duas características do gênero romance e analise o modo como essas características aparecem nos textos estudados por você.
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor.
3. Como os romances estudados contribuem para a formação de uma perspectiva crítica sobre a história?
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
4. Explique as principais características de estruturação, conteúdo e estilo de resenhas críticas?
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
5. Elabore uma síntese sobre os verbos que retome os conceitos de modo, tempo e aspecto.
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor.
Além da compreensão do conteúdo, é importante refletir sobre seu desempenho e sua aprendizagem ao longo do capítulo. Para isso, no caderno, reproduza o quadro a seguir e responda às questões. Em seguida, converse com os colegas e com o professor sobre formas de aprimoramento de sua aprendizagem e anote-as na coluna de observações.
Ao longo do estudo do capítulo, percebo que...
… realizei as tarefas que estavam sob minha responsabilidade.
… compreendi e sintetizei os conceitos literários, de gênero textual e linguísticos.
… produzi com empenho de aprendizagem todas as propostas de pesquisa.
… considerei as opiniões e os argumentos dos colegas nos momentos de reflexão propostos.
Fui proficiente Preciso aprimorar Observações












Neste capítulo, o enfoque analítico de questão de provas do ingresso está voltado para o estudo da língua, mais especificamente para um formato possível de questão sobre os verbos. A questão que você lerá fez parte da prova do processo seletivo da Universidade Federal de Juiz de Fora (MG), em 2023. Depois de respondê-la, pratique outras questões de assuntos diversos relacionados ao capítulo, que também foram temas de exames de vestibular pelo Brasil. 1. (UFJF-MG)

Texto I
A Academique busca contribuir para o sucesso acadêmico de alunos de graduação, pós-graduação, professores e pesquisadores ao longo do desenvolvimento de suas carreiras, bem como fomentar o desenvolvimento científico de instituições de ensino.
Nossa missão é contribuir para o desenvolvimento da carreira acadêmica e para fomentar estudos científicos e gerenciais.
Texto II
POSTAGEM I
Disponível em https://academique.com.br/quem-somos. Acesso em: 31 ago 2022.
POSTAGEM II


POSTAGEM III

A questão oferece dois textos de apoio: um ligado ao editorial do site do qual as postagens foram extraídas e outro que apresenta as postagens efetivamente realizadas em uma rede social. Todo esse contexto de produção e circulação deve ser percebido no momento da leitura. Esse formato de questão permite mais de uma pergunta associada aos textos de apoio, o que geralmente ocorre nas provas. Nesse caso, apresenta-se aqui apenas uma das questões feitas, voltada ao estudo dos verbos
Observe que, para responder à questão, é preciso conhecer os modos e os tempos verbais, em seus formatos morfológicos (as desinências) e em suas funcionalidades. Neste capítulo, o enfoque de estudos foi o modo indicativo e seus tempos, permitindo um estudo específico desse tema. No entanto, as questões de provas de vestibulares partem de uma análise mais abrangente e requerem o acionamento de seus conhecimentos gerais sobre a temática.
Quanto à escolha verbal do início dos cinco entre os seis itens da Postagem I, é possível afirmar que:
a) Os verbos estão no presente do indicativo e esse tempo e modo são próprios de postagens no Instagram.
Resposta: alternativa d
b) Os verbos estão no presente do subjuntivo porque indicam diferentes ações a serem futuramente realizadas pelos leitores.
c) Os verbos estão no modo infinitivo, frequentes em textos instrucionais que visam advertir e regular condutas dos leitores.
d) Os verbos estão no modo imperativo, frequentes em textos instrucionais que visam orientar comportamentos futuros dos leitores.
e) Os verbos estão no presente do indicativo, frequentes em textos injuntivos que visam regularizar condutas equivocadas e errôneas dos leitores.

É possível perceber pessoas dançando e tocando instrumentos musicais característicos do samba, como o tambor e o pandeiro, além do violão. O evento ocorre dentro de uma casa e, da janela, uma mulher o observa. Esses elementos enriquecem a constituição da cena que representa uma festa, um momento de diversão
Veja respostas e comentários nas Orientações para o
Resposta pessoal. É importante que os estudantes consigam buscar elementos da imagem que sejam coerentes com elementos da biografia da autora, como sua origem humilde e seus interesses culturais, a fim de relacionar a possíveis intencionalidades, como eternizar a cultura popular e periférica.
sugestões didáticas nas Orientações para o professor
Com base em seus conhecimentos e na obra da artista Maria Auxiliadora da Silva (1935-1974), apresentada na abertura do capítulo, responda às questões a seguir.
1. Quais são os elementos visuais presentes na imagem? Como esses elementos contribuem para representar o evento de diversão popular?
2. Elabore uma hipótese que explique o interesse da artista em retratar a cultura popular.
3. Manifestações literárias que visam valorizar a cultura periférica e/ ou divulgar produções artísticas marginais têm ganhado espaço nas redes sociais e geralmente são produzidas por autores mais jovens. De que modo você acredita que essa forma de divulgação pode contribuir para o surgimento de novos poetas?
4. Maria Auxiliadora desenvolveu a sua arte tendo, muitas vezes, o cotidiano de familiares e amigos que viviam na periferia de São Paulo como inspiração. Em sua opinião, de que maneira as vivências do cotidiano podem servir de material para criações artísticas e produções escritas?
5. Como qualquer texto, a imagem apresenta intencionalidades em sua composição que podem ou não coincidir com alguma de suas interpretações. O mesmo ocorre nas representações da língua. De que modo as intencionalidades do enunciador podem se mostrar presentes em um texto?
Avance até a seção Oficina de Projetos nas páginas finais do livro e finalize a etapa “Dividir tarefas e empreender”. Em seguida, reserve um tempo para realizar a avaliação sugerida na etapa “Avaliar e recriar possibilidades”.

3. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes apresentem seus conhecimentos sobre a divulgação literária na internet e percebam que essa possibilidade permite a valorização de manifestações associadas à cultura juvenil e à cultura periférica, incentivando o surgimento de novos poetas e autores.

• C ampo artístico-literário
• C ampo da vida pessoal
• Cidadania e Civismo: Educação em Direitos
Humanos; Direitos da Criança e do Adolescente
• Multiculturalismo: Diversidade Cultural
■ SILVA, Maria Auxiliadora da. No terraço do mundo. 1970. Técnica mista sobre tela, 50 cm × 70 cm.
A artista plástica mineira desenvolveu sua arte de forma autônoma e utilizou técnicas inovadoras de pintura. De família humilde, trabalhava como empregada doméstica e passadeira e teve pouca escolarização. Em suas telas, retratava a vida rural, festas populares, rituais afro-brasileiros, além do cotidiano de familiares e amigos que viviam na periferia de São Paulo.

4. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes reflitam sobre produções que utilizam vivências pessoais do cotidiano como inspiração. Esse é o caso dos textos pertencentes ao gênero textual relato de experiência vivida, que será analisado neste capítulo.
5. Na língua, as intencionalidades podem ser inseridas por meio de recursos linguísticos, de modo que o enunciador consiga expressar a sua intencionalidade, ou seja, o seu projeto de dizer.

Respostas pessoais. O objetivo da atividade é incentivar os estudantes a refletir sobre o modo como as desigualdades sociais são, por vezes, reproduzidas também no meio artístico-literário.
Respostas pessoais. O objetivo da atividade é incentivar os estudantes a refletir sobre as diferentes possibilidades de construção identitária que a literatura oferece como forma de introduzir a temática da negritude que será abordada no
A seguir, você vai ler um poema da escritora cearense Jarid Arraes (1991-). No texto, o eu lírico fala sobre a ausência de pessoas negras, especialmente mulheres, em espaços eruditos e reflete a respeito do papel destinado às mulheres negras na literatura. Cada vez mais as pessoas negras vêm ocupando espaços que, historicamente, lhes foram vetados, mas ainda há um enorme caminho a ser trilhado antes de se falar em paridade; portanto, a reflexão sobre o assunto é fundamental e precisa continuar acontecendo.
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor
Antes de ler o poema, discuta com os colegas as questões a seguir.
• Como você imagina que as pessoas negras serão retratadas no poema? Discuta com os colegas.
• Em seu ponto de vista, as mulheres negras escritoras têm a mesma visibilidade que os autores brancos e homens? Justifique sua resposta.
*
1 1 439 lugares
2 e eu era a única negra
3 há espíritos fortes que falam
4 de racismo
5 enquanto assistem carmina burana
6 [eu quebro]
7 o primeiro ato
8 é o roubo
9 quero escrever coisas outras
10 pássaros janelas o clima
11 as lentes o detergente
12 roubaram de mim
13 de você desse lápis
14 desse teclado
15 a escrita da poesia qualquer
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor.
16 enquanto o cérebro
17 encurta o circuito
18 a medicação tropeça
19 enquanto sou como todas
20 as outras poetas
21 fui roubada
22 quero sofrer como todos
23 os loucos
24 e das palavras que surtam
25 peneirar
26 a estética
27 mas se atente
28 ao movimento
29 dos furtos clássicos
30 históricos e afinados

31 entre todas essas que versam
32 um papel me foi restado
33 quantas negras eu questiono
34 o que escrevem
35 essas negras
36 o primeiro ato
37 é sempre um trato
38 assinei esse papel
39 de única e exceção
40 e agora minhas frases
41 são fronteiriças
42 e beatriz eu só queria
43 escrever sobre as paredes
44 os olhares e as cadeiras
45 os baralhos os abismos
46 1 439 lugares
47 e eu era a única negra
48 eu deveria estar feliz
49 porque ocupei esse espaço
50 montei essa ocupação
51 solitária
52 de uma bandeira
53 parda
54 [eu quebrei
55 em mil pedaços]
56 eu deveria estar feliz
57 mas beatriz eu só queria
58 escolher uma poesia
59 beatriz eu só queria
60 como todas as poetas
61 as negras também
62 surtam
63 mas o primeiro
64 ato
65 é sempre uma
66 pergunta
67 onde estão as
68 negras
69 onde estão
70 as negras
71 [onde estão as negras] poema do meu livro ‘um buraco com meu nome’, para beatriz nascimento.
* A numeração que acompanha o poema foi inserida para fins didáticos, não está presente na publicação original.
ARRAES, Jarid. Nunc obdurat et tunc curat In: ARRAES, Jarid. Um buraco com meu nome Rio de Janeiro: Alfaguara, 2021. p. 78-80.
surtar: perder o controle, enlouquecer. afinado: harmonioso. versar: discorrer sobre um tema; escrever versos.

Jarid Arraes é uma escritora brasileira nascida em Juazeiro do Norte (CE). Seu avô e seu pai, ambos cordelistas e xilogravuristas, sempre influenciaram a sua relação com a literatura – a autora possui mais de 70 cordéis publicados, alguns deles reunidos no livro Heroínas negras brasileiras em 15 cordéis . Ela começou a publicar seus textos literários em um blogue, intitulado Mulher Dialética. Em 2015, publicou o seu primeiro livro em prosa, As lendas de Dandara . Nesse mesmo ano, criou o Clube de Escrita para Mulheres, com o objetivo de encorajar mulheres a escrever. Foi vencedora do Prêmio Literário Biblioteca Nacional e na categoria Literatura do Prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) com o seu livro Redemoinho em dia quente ■ Escritora Jarid Arraes em São Paulo, 2024.
1. Como a escolha de apresentar um número no primeiro verso indica a temática abordada no poema?
2. No quinto verso do poema, o eu lírico usa a expressão carmina burana. Com base na sua interpretação do poema, o que ela representa?
1. Espera-se que os estudantes compreendam que, de todas as pessoas que estavam na plateia (1 439), apenas uma era negra; fato que está intimamente relacionado à temática da representatividade que perpassa todo o poema. Espera-se que os estudantes suponham que se refere a alguma produção artística ou algum nome de artista de acordo com o contexto do poema.

3. Você e dois colegas vão realizar uma pesquisa sobre Carmina Burana e, em seguida, registre o que você aprendeu no caderno.
a) Os manuscritos de Carmina Burana deram origem a uma cantata cênica, criada pelo compositor alemão Carl Orff (1895-1982). Realize uma pesquisa sobre essa cantata, observando os espaços em que tal composição costuma ser apresentada. Durante a pesquisa, preste atenção às instruções a seguir.
• Pesquise em fontes diversas para comparar as informações e, assim, verificar se estão corretas. Para isso, observe como as informações são apresentadas nas fontes encontradas, analisando se há incoerências entre elas.
• Verifique se as fontes escolhidas são confiáveis, como as que fazem parte de alguma instituição de ensino ou pesquisa. Muitas informações podem ser encontradas em sites oficiais de orquestras filarmônicas e de jornais de grande circulação.
• Anote as referências utilizadas na pesquisa ao final de seu registro.
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
b) Com base no que você e os colegas aprenderam na pesquisa realizada no item anterior, retome os primeiros cinco versos do poema e analise o espaço físico onde a ação descrita se passa. Na opinião do seu grupo, o fato de o eu lírico ser a única negra naquele contexto pode ser considerado racismo?
4. Releia o título do poema de Jarid Arraes. Trata-se da citação de um trecho de um dos poemas de Carmina Burana, intitulado “Ó Fortuna”. Leia, a seguir, a primeira estrofe do poema, em latim, e a sua versão traduzida, para responder ao que se pede.

O Fortuna, velut luna statu variabilis, semper crescis aut decrescis; vita detestabilis nunc obdurat et tunc curat ludo mentis aciem, egestatem, potestatem dissolvit ut glaciem. […]
Ó Fortuna [és] como a Lua de estado variável, sempre cresces e decresces; vida detestável agora endureces e depois curas para brincar com a mente; a miséria, o poder, [a Fortuna] dissolve como o gelo. […]

Ó FORTUNA. In: ABRANTES, Miguel Carvalho. A Carmina Burana de Carl Orff. [S l : s n ], c2018.
3. b) Com base na pesquisa sobre Carmina Burana e na análise do poema, é possível concluir que o texto se passa em uma sala de concertos musicais. Espera-se que os estudantes compreendam que, tal como os demais espaços sociais, esse também deveria ser ocupado por pessoas de etnias e classes sociais variadas. Assim, esse fato pode ser considerado racismo pela ausência de mais pessoas negras frequentando ambientes associados à erudição.

a) Interprete o significado dos versos “nunc obdurat / et tunc curat” no contexto do poema “Ó Fortuna”.
No contexto do poema “Ó Fortuna”, os versos expressam o caráter contraditório da sorte (a fortuna), que ora oprime, ora cura.
b) Agora, analise os versos no contexto do poema de Jarid Arraes. O significado permanece o mesmo? Explique.
c) Copie, no caderno, as afirmações que associam corretamente o trecho do poema “Ó Fortuna” ao poema “Nunc obdurat et tunc curat”.
I. “Ó Fortuna” e “Nunc obdurat et tunc curat” compartilham uma perspectiva crítica e questionadora a respeito das forças externas que afetam a vida dos indivíduos.
II. Em “Nunc obdurat et tunc curat”, a autora aborda o tema do racismo e da marginalização com tom de resignação, aceitando a sua situação, enquanto “Ó Fortuna” enfatiza a luta ativa contra as adversidades impostas pela sorte.
III. A escolha de Jarid Arraes em utilizar versos do poema “Ó Fortuna” como título de seu poema contribui para a construção de sentido e atribui ao texto significados simbólicos que se originam no poema citado, mas são ressignificados no poema da autora cearense.
IV. Ambos os poemas utilizam a estrutura poética para expressar sentimentos de resistência e indignação contra as adversidades, por meio de metáforas e imagens simbólicas para ilustrar suas mensagens. As afirmações corretas são: I e III.
Intertextualidade na literatura
4. b) Ao serem inseridos no contexto do poema de Jarid Arraes, os versos fazem referência direta à cantata Carmina Burana, explorando uma relação entre os dois textos. Além disso, eles podem ser interpretados de outra maneira, pois passam a fazer referência aos processos de escrita e de opressão vivenciados pelas mulheres negras.
Alguns textos literários estabelecem relações com outros textos em sua composição. Essas referências externas podem ser das mais variadas e abrangentes possíveis: desde cantatas ou manuscritos, como no caso do poema lido anteriormente, até referências da cultura pop, da cultura digital, do cinema, da música atual e de outros textos literários. Quando um texto literário constrói significados com base na sua relação com outros textos, ocorre um mecanismo chamado intertextualidade, que pode aparecer de forma explícita ou implícita.
5. Releia os versos 10 a 35 do poema de Jarid Arraes para responder às questões a seguir.
a) O que foi roubado do eu lírico?
5. d) Os furtos referidos nos versos 27 a 30 podem ser interpretados como uma metáfora para a apropriação e a marginalização de vozes e expressões de grupos minoritários. Na literatura produzida por grupos que detêm o poder político e/ou econômico, há, muitas vezes, a exclusão e a negação de narrativas, identidades e vozes de grupos minoritários. Assim, o eu lírico denuncia a apropriação e a supressão de sua voz e de sua identidade. Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor.
A “escrita da poesia qualquer”.
b) O que o eu lírico possivelmente procura expressar ao apresentar aquilo que lhe foi roubado? Justifique.
Possivelmente, o eu lírico procura expressar uma espécie de revolta diante da impossibilidade de escrever sobre o cotidiano por causa da opressão racial vivenciada.
c) Entre os versos 22 a 26, o eu lírico expressa um desejo. Qual é esse desejo? Explique analisando o contexto do poema.
d) Considerando o que você sabe sobre a literatura produzida por grupos politicamente minoritários, como você interpreta os furtos aos quais o eu lírico se refere nos versos 27 a 30?
6. Retome os versos 31 a 35 e, em seguida, elabore uma reflexão sobre o espaço ocupado pelas mulheres negras enquanto autoras de literatura. Em sua reflexão, considere a análise do poema realizada até aqui.
Resposta pessoal. O objetivo da atividade é que os estudantes reflitam sobre o papel reservado para as mulheres negras na literatura, percebendo que seu espaço é comumente limitado e questionado.
5. c) O desejo do eu lírico é poder sofrer como todos os loucos e selecionar as palavras que surtam. No contexto do poema, esse desejo se conecta com a impossibilidade de o eu lírico escrever sobre o cotidiano e, portanto, sobre situações de vida que não se relacionem com o racismo estrutural.
7. a) O eu lírico diz ocupar um lugar de exceção por causa de sua posição como mulher negra na literatura e, também, por ter acesso a ambientes de erudição que outras pessoas não conseguem acessar. Esse lugar de exceção pode ser compreendido como resultado da marginalização das vozes negras, que são frequentemente excluídas ou tratadas como exceções no panorama literário. O eu lírico é confrontado com a realidade de que, apesar de ter conquistado um espaço, ainda há muito a fazer para garantir representatividade e inclusão plena.
7. b) Um motivo possível para a infelicidade do eu lírico é a falta de representatividade e de outras autoras negras ocupando o mesmo espaço. Muitas vezes, essa conquista não permite uma realização plena por se tratar de uma caminhada solitária. Além disso, a presença em um espaço literário dificilmente ocupado por autoras negras não diminui a exclusão sofrida por grande parte das mulheres que escrevem literatura. A felicidade é comprometida pela percepção de que a conquista é superficial, em vez de representar uma mudança significativa nas estruturas que perpetuam a exclusão e a marginalização. Pode-se entender ainda que a sensação de ser uma “exceção” pode causar um sentimento de isolamento e a percepção de que seu trabalho é visto como uma curiosidade, em vez de uma contribuição legítima

No contexto do poema, o diálogo entre o eu lírico e Beatriz Nascimento pode ser interpretado como uma reflexão sobre o conceito de aquilombamento e como uma crítica à falta de um verdadeiro aquilombamento na literatura e na sociedade. O eu lírico, ao sentir que seu espaço é isolado e não inclui outras pessoas negras, reflete sobre a dificuldade de encontrar uma verdadeira união e valorização das autoras negras, apontando para a ausência de um “quilombo” literário verdadeiro, no qual as autoras negras pudessem se expressar e se unir sem serem percebidas como exceção.
7. Releia os versos 36 a 62. Em seguida, responda ao que se pede.
a) Nesses versos, o eu lírico afirma ocupar um lugar de exceção. Explique essa expressão no contexto do poema.
b) Ao ocupar esse lugar, o eu lírico entende que deveria estar feliz, mas não está. Aponte um possível motivo para essa infelicidade.
c) No contexto dos versos analisados, qual é o possível significado dos versos “o primeiro ato / é sempre um trato”, segundo a sua interpretação? Explique.
8. No Capítulo 1, você estudou o trecho de um artigo acadêmico de Beatriz Nascimento sobre o processo de aquilombamento. Para essa autora, o quilombo está relacionado também a uma ideia de liberdade, de união e de valorização das características e dos modos de vida das pessoas negras. Tendo em vista esse processo e o encerramento do poema de Jarid Arraes, analise o diálogo estabelecido entre o eu lírico e a intelectual no contexto do poema.
7. c) Entre as possibilidades interpretativas, está a percepção de que, para conseguir reconhecimento enquanto escritora negra, o eu lírico precisaria aceitar condições impostas por outras pessoas.
RETOMADA
No Capítulo 1 , foi estudado o processo de formação dos quilombos com base em um artigo acadêmico de Beatriz Nascimento. Esse processo de aquilombamento se deu pela criação de uma estrutura social de resistência, que tinha por objetivo ressignificar a sociedade escravocrata, estabelecendo locais em que a população negra pudesse viver em liberdade.
9. Você e um colega vão reler os versos 63 a 71 e refletir sobre o questionamento proposto pela autora.
9. a) Respostas pessoais. O objetivo da questão é estimular a reflexão sobre a diversidade dos espaços frequentados pelos estudantes.
a) Pensem nos espaços frequentados por vocês. Eles costumam receber muitas pessoas negras? Na percepção da dupla, por que isso ocorre?
b) No ponto de vista da dupla, por que alguns espaços não contam com a presença de tantas pessoas negras?
Resposta pessoal. O objetivo da questão é levar os estudantes a refletir sobre alguns mecanismos de exclusão social do racismo estrutural.
c) Quais medidas sociais vocês acreditam serem possíveis para mudar essa realidade?
Resposta pessoal. O objetivo da questão é estimular o desenvolvimento do pensamento crítico com a formulação de propostas de intervenção social.
AMPLIAR
Blogues literários e clubes de escrita
Jarid Arraes iniciou a sua carreira literária por meio da publicação dos seus escritos na internet, em seu blogue literário intitulado Mulher Dialética; a partir de então, a autora passou a ganhar destaque no meio literário. Arraes sempre teve muito interesse por estudar o papel das mulheres negras na literatura e em encorajar outras autoras em início de carreira. Por isso, em outubro de 2015, ela criou o Clube da Escrita Para Mulheres. Assim como Arraes, vários escritores de literatura contemporânea iniciaram sua carreira literária por meio da publicação de seus escritos on-line. A internet se configura como um espaço de divulgação literária muito interessante e produtivo, especialmente para os grupos marginalizados, que encontram no ambiente virtual possibilidades de divulgação de seu trabalho autoral. Também é por meio do recurso da internet que a criação de clubes de escrita, como o conduzido por Jarid Arraes, é cada vez mais comum.
10. A internet tem transformado profundamente as formas de expressão e comunicação, oferecendo possibilidades para que as pessoas compartilhem suas experiências e ideias. Os blogues literários se configuram como um exemplo disso. Considerando o impacto dessas plataformas digitais na vida cotidiana e nas práticas culturais, reflita sobre o papel da internet na divulgação de trabalhos e na veiculação de novas ideias e tendências. Ao refletir, considere sua experiência pessoal com a internet enquanto recurso para o empoderamento e a legitimação da identidade.

Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
11. Releia o poema “Nunc obdurat et tunc curat”, prestando atenção à forma como o seu conteúdo é apresentado, para responder às questões a seguir
a) No poema, há a repetição do verso “o primeiro ato”. Explique a que esse verso faz referência, considerando o contexto em que tal poema está ambientado.
O verso faz referência à estrutura do gênero cantata, apresentação que se divide em atos.
b) O verso analisado anteriormente aparece acompanhado por outros versos, cujas estruturas se assemelham a cada repetição. Transcreva-os no caderno.
10. Resposta pessoal. O objetivo da questão é que os estudantes reflitam sobre o papel da internet em seu cotidiano. É possível que a maioria mencione as redes sociais como importante ferramenta para divulgar trabalhos, compartilhar ideias e opiniões e encontrar pessoas com interesses comuns. É possível relacionar essas experiências com o papel dos blogues literários para os autores.
“o primeiro ato / é o roubo”, “o primeiro ato / é sempre um trato” e “mas o primeiro / ato / é sempre uma / pergunta”
c) Os efeitos de sentido atribuídos ao verso “o primeiro ato” em cada um dos trechos apresentados por você no item anterior se alteram ou permanecem os mesmos a cada nova aparição? Explique.
Os efeitos de sentido atribuídos ao verso “o primeiro ato” mudam a cada nova aparição no poema, pois a cada vez refletem um aspecto diferente da experiência do eu lírico.
Paralelismo
Como você pôde observar, a repetição do verso analisado vem acompanhada de pequenas mudanças que alteram o efeito de sentido do verso que se repete. Do ponto de vista linguístico, essa repetição recebe o nome de paralelismo; normalmente, como no contexto do poema, esse fenômeno ocorre tanto do ponto de vista sintático quanto semântico. Sintaticamente, o paralelismo se manifesta na construção de frases que mantêm os termos da oração na mesma organização. Semanticamente, a repetição reforça o significado da mensagem, acrescentando a ela novas informações pela alteração dos versos.
12. Retome o poema, prestando atenção ao modo como os demais versos se estruturam.
a) Em determinados momentos, há a utilização de um sinal gráfico para indicar a separação de determinados versos. Indique qual é esse símbolo e em quais versos ele aparece.
O sinal gráfico utilizado são os colchetes ( [ ] ). Esse símbolo aparece em vários trechos do poema, como nos versos 6, 54, 55 e 71.
b) Em sua interpretação, qual é o efeito de sentido gerado pela utilização desse símbolo?
Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes compreendam que os colchetes inserem um pensamento do eu lírico no poema ou indicam momentos de reflexão, por exemplo.
No Capítulo 4, você estudou o modo como as múltiplas vozes narrativas contribuem para a estruturação do ponto de vista acerca de uma história narrada. No poema de Jarid Arraes, a voz do eu lírico também assume duas posições diferentes.
A inserção dos colchetes indica que o que está sendo dito é um fragmento do pensamento ou da reflexão do eu lírico, ocupando um lugar à margem e funcionando como um texto dentro do texto, o que atribui ao poema mais uma camada interpretativa.
13. a) O poema não apresenta um esquema de rima regular, pois sua estrutura se caracteriza pela liberdade formal. Em vez de um esquema rítmico fixo, o poema opta por uma construção mais solta e flexível, o que permite uma expressão mais livre e pessoal do eu lírico.
13. b) Os versos apresentam medidas variadas e não seguem uma métrica regular. A variação no número de sílabas dos versos reflete a estrutura livre do poema. Enquanto o verso 4 apresenta três sílabas poéticas (de/ ra/ cis/ mo), o verso 5 apresenta dez sílabas poéticas (en / quan / toa / ssis / tem / car / mi / na / bu / ra / na), por

A ausência de pontuação pode dificultar a leitura em voz alta porque, sem os sinais de pontuação, o leitor deve inferir pausas com base no ritmo e na fluidez do texto, o que pode tornar a leitura mais desafiadora e exigir maior atenção à estrutura
Resposta esperada: a pontuação geralmente ajuda a delinear as relações entre as partes do texto, guiando o leitor na interpretação correta do ritmo e das ênfases. A falta desses sinais, por sua vez, pode resultar em uma leitura mais fluida, mas também pode levar a uma interpretação mais subjetiva e variada do poema.
13. Agora, observe a construção do poema no que diz respeito à rima e à métrica.
a) O p oema apresenta rimas? Se sim, essas rimas obedecem a uma regularidade? Explique.
b) No poema, os versos apresentam a mesma medida, ou seja, possuem o mesmo número de sílabas poéticas? Justifique com base na análise e na contagem das sílabas poéticas de alguns versos.
Por vezes, os poemas rompem com os padrões clássicos de métrica e rima. No poema estudado no capítulo, a ausência de rima e de métrica regular permite uma construção poética mais livre e direciona o foco para a subjetividade, possibilitando que o eu lírico explore seus sentimentos e pensamentos sem se preocupar com as restrições de uma estrutura convencionalmente rimada e metrificada.
14. Releia o poema em voz alta e, em seguida, responda ao que se pede.
a) A ausência de pontuação facilitou ou dificultou a leitura em voz alta? Explique.
b) Quais são os possíveis efeitos de sentido gerados pela ausência de pontuação no poema?
c) Observe o modo como o conteúdo do poema se estrutura, prestando atenção às mudanças de versos e de estrofe. Cada verso e cada estrofe apresenta uma ideia completa? Explique.
O poema apresenta estrutura fragmentada, de modo que uma ideia iniciada em um verso pode ser completada em outro. O mesmo ocorre nas mudanças de estrofe.
Encadeamento dos versos
A quebra na estrutura dos versos, observada por você no poema, é um recurso poético conhecido como enjambement (“encadeamento ”, em português). O nome faz referência ao fato de o sentido de um verso ser levado para o verso seguinte. Esse recurso contribui para a construção dos efeitos de sentido no poema. A combinação das frequentes quebras de verso com a ausência de pontuação em “Nunc obdurat et tunc curat” permite que o poema seja lido com base em sequências rítmicas diferentes e que cada uma dessas leituras possa atribuir novos significados aos versos.
15. Elabore um parágrafo analisando a maneira como os recursos de estilo empregados enriquecem a interpretação do poema estudado. Em seu parágrafo, apresente o efeito de sentido gerado por esses recursos.
15. Resposta pessoal. O objetivo da atividade é estimular os estudantes a refletir sobre os recursos de estilo do poema, enfatizando a ausência de pontuação no texto, a sua estrutura fragmentada e o modo como essa estrutura reflete na sua interpretação.
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor.
Anteriormente, você leu um poema de Jarid Arraes que discorre sobre a ausência de mulheres negras em espaços eruditos. No texto, o eu lírico reflete ainda sobre o espaço ocupado na sociedade pelas mulheres negras que escrevem. A seguir, você vai ler um poema de Midria (1999-), no qual a subjetividade da escritora negra é explorada de outra perspectiva.

1. a) O título do livro Cartas de amor para mulheres negras e o título do poema “Eu gostaria de escrever sem estar com raiva” contrastam pelos sentimentos opostos indicados. Enquanto o título do livro fala sobre o amor, o do poema fala sobre a raiva que o eu lírico sente ao escrever.
Prelúdio
1 Eu gostaria de escrever cartas
2 de amor para mulheres negras
3 enxergando apenas nossa
4 imensa existência
5 Sem rimas com dores e
6 lutas, por um dia só eu queria
7 exaltar nossas pluralidades sem
8 culpa, não lembrar
9 Que somos fortes, mais
10 do que deveríamos
11 Que somos tão grandes quanto o
12 mundo não nos deixou ser
13 Eu gostaria de escrever
14 cartas de amor para mulheres
15 negras como se vivêssemos em
16 um mundo onde não há
17 qualquer espaço
18 Pequeno ou gigante demais,
19 em que não caibamos […]
[…]
20 Eu gostaria de escrever sem
21 a memória do que poderíamos
22 ter sido e com a certeza de que
23 tudo tornaremos a ser
24 Eu gostaria de escrever
25 menos eu e mais nós
26 Poemas coletivos de vidas
27 plenas sem porém ou vírgulas,
28 concretudes de utopias em que
29 a dor não tenha lugar
30 Por um dia que seja ao
31 menos possível imaginar
32 Eu gostaria de escrever um
33 mísero conto, onde pudesse
34 sussurrar nos ouvidos
35 nossos próprios
MIDRIA. Eu gostaria de escrever sem estar com raiva. In: MIDRIA. Cartas de amor para mulheres negras. São Paulo: Jandaíra, 2022. p. 6-8.
prelúdio: primeiro passo, ato inicial para algo.
utopia: fantasia positiva; civilização ideal.
1. b) Respostas pessoais. Espera-se que os estudantes reflitam sobre como o conteúdo do prelúdio antecipa a temática dos poemas do livro. Ao interpretar esse texto, os estudantes podem levantar hipóteses a respeito das temáticas abordadas no decorrer da obra, como: luta, resistência, racismo, amor e representatividade.

1. O poema lido por você é o primeiro do livro intitulado
Cartas de amor para mulheres negras . Com base nessa informação e na sua interpretação do poema, responda às questões a seguir.
a) Analise o contraste entre o título do livro e o título do poema lido.
b) De que modo você imagina que os demais poemas da obra dialogam com o prelúdio lido? Explique com base na sua interpretação dos versos estudados.
2. No prelúdio do poema “Eu gostaria de escrever sem estar com raiva”, há a repetição da forma verbal gostaria, que expressa a ideia de desejo.
a) Qual é o efeito de sentido gerado pela repetição dessa forma verbal ao longo do texto?
b) Considerando a resposta do item anterior, você acredita ser provável que aquilo que a autora deseja seja alcançado no decorrer do livro? Justifique.
Midria é poeta, slammer e cientista social. Iniciou sua produção literária nos saraus e slams das periferias de São Paulo. Em 2018, o seu poema “Eu sou a menina que nasceu sem cor” viralizou na internet após ser recitado no programa Manos e Minas, da TV Cultura. O poema deu título ao seu primeiro livro, que foi adaptado para o público infantil. Midria escreveu também o livro Cartas de amor para mulheres negras , lançado em 2022 durante a Festa Literária Internacional de Paraty (Flip).

■ Escritora Midria em Paraty (RJ), 2022.
2. a) A repetição da forma verbal gostaria ao longo do poema enfatiza o desejo do eu lírico de que as ações elencadas por ele aconteçam. Essa repetição destaca ainda a frustração do eu lírico diante das situações de opressão racial e o seu desejo de que elas se modifiquem, para que a escrita não parta do sentimento de raiva.
2. b) O poema reflete a busca por uma realidade em que as mulheres negras possam existir plenamente, sem serem atingidas pelos preconceitos racial e de gênero. Nesse sentido, a repetição do verbo pode indicar que essa busca ainda não será alcançada.
No poema “Eu gostaria de escrever sem estar com raiva”, a repetição da forma verbal gostaria acompanha a estrutura do poema de forma a gerar um paralelismo ao mesmo tempo sintático – por causa da repetição da frase “Eu gostaria de” – e semântico – por causa da repetição temática que enfatiza o desejo do eu lírico.
Assim como acontece no poema de Jarid Arraes analisado anteriormente, o paralelismo confere à estrutura poética uma marca de estilo que, a cada repetição, reconstrói a ideia inicial com base em um novo ponto de vista.
3. O poema de Midria se aproxima do poema de Jarid Arraes do ponto de vista temático. A esse respeito, faça o que se pede a seguir.

a) Retome as quatro primeiras estrofes do poema “Eu gostaria de escrever sem estar com raiva”. As estrofes expressam um desejo que também é compartilhado pelo eu lírico de “Nunc obdurat et tunc curat”. Qual é esse desejo? Explique.
b) Os versos a seguir pertencem ao poema “Eu gostaria de escrever sem estar com raiva”. Nele, o eu lírico expressa um incômodo que também é sentido pelo eu lírico de “Nunc obdurat et tunc curat”. Indique qual é esse incômodo, considerando o contexto em que se passa o poema de Jarid Arraes.
Eu gostaria de escrever cartas de amor para mulheres negras como se vivêssemos em um mundo onde não há qualquer espaço
Pequeno ou gigante demais, em que não caibamos […]
3. a) O desejo expressado pelas estrofes é de que as mulheres negras possam falar sobre assuntos diversos em seus poemas e não se restrinjam às situações de racismo ou violências sofridas por elas.
3. b) O incômodo do eu lírico se refere ao fato de as mulheres negras não ocuparem todos os espaços. No poema de Jarid Arraes, esse incômodo se manifesta por causa da inexistência de outras pessoas negras ocupando espaços de erudição, como o concerto de música clássica.
Slam é uma onomatopeia que, na língua inglesa, designa algo como “bater palmas”; é o nome dado a batalhas ou campeonatos de poesia falada, em que qualquer pessoa pode participar. Nesses eventos, os poetas competidores, ou slammers, têm três minutos para recitar o seu poema e não podem usar adereços e figurinos chamativos. Fazendo uso da performance do corpo, da voz e de estruturas de rima e ritmo, os slammers buscam atrair a atenção do público para aquilo que têm a dizer. Os slams costumam contar com a participação do público jovem, pois oferecem um espaço para a expressão de suas vivências, opiniões e emoções, muitas vezes relacionadas a questões sociais e políticas.
4. Leia o trecho a seguir, retirado de uma reportagem sobre Midria, e responda às questões.
‘Foi no sarau que comecei a escrever os primeiros textos sobre a minha trajetória’, conta a poeta de 24 anos, sentada numa poltrona rosa do seu apartamento. ‘No contraturno da escola, ficávamos lendo clássicos da literatura, uau, e escrevíamos textos contemplativos sobre a vida, as flores, a brisa do mar. Não é problema, mas aquilo estava distante da minha realidade.’ Tinha em torno de 15 anos quando descobriu como era libertador se expressar a uma plateia em voz alta, discutindo um processo doloroso de transição capilar pelo qual passava. ‘As pessoas se sentiam à vontade para falar sobre o meu corpo de maneira racista depois que parei de alisar meu cabelo.’

4. a) Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes reflitam sobre o modo como expressões artísticas, em especial a literatura, podem ajudar a construir outros pontos de vista sobre a mesma realidade. Incentive os estudantes a refletir, também, sobre a sua própria relação com a literatura.
Daí para a frente, virou literatura. ‘Midria parece ter chegado pronta à cena, ao contrário da geração de poetas da performance de que é um dos ícones, que amadureceu esteticamente ao vivo e a cores’, diz Julio Ludemir, criador da Festa Literária das Periferias, que sediou há pouco um campeonato mundial de slam. Ele diz se lembrar especialmente do poema ‘A Menina que Nasceu sem Cor’, ‘que já nasceu um clá ssico’.
PORTO, Walter. Quem é Midria, sensação do slam que investiga a solidão da mulher negra na poesia. Folha de S.Paulo, São Paulo, 15 dez. 2023. Disponível em: www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2023/12/quem-e -midria-sensacao-do-slam-que-investiga-a-solidao-da-mulher-negra-na-poesia.shtml. Acesso em: 10 set. 2024.
a) Considerando o trecho lido e o que você aprendeu sobre o slam, elabore uma reflexão sobre a importância de espaços de expressão literária para as juventudes periféricas.
b) No slam faz-se uso da atuação como recurso poético. Em seu ponto de vista, de que forma tal recurso pode contribuir para a construção de diferentes interpretações de um poema?
c) Midria expressa situações de sofrimento e preconceito que sofreu por meio da poesia. De que modo a arte, em geral, e a literatura, em particular, podem auxiliar as pessoas diante de situações como as vividas pela autora? Explique.
4. c) Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
5. Releia o trecho a seguir, retirado do poema “Eu gostaria de escrever sem estar com raiva”, para responder ao que se pede.
Poemas coletivos de vidas plenas sem porém ou vírgulas, concretudes de utopias em que a dor não tenha lugar por um dia que seja ao menos possível imaginar
4. b) Resposta pessoal. Estimule os estudantes a refletir sobre as possíveis alterações de sentido de um poema que podem ser geradas pela maneira como ele é lido ou transmitido pelo slammer.
a) O trecho apresenta uma estrutura de rimas específica. Qual é essa estrutura?
A estrutura de rima é AABCDC.
b) Faça a leitura do trecho em voz alta, analisando como o encadeamento dos versos e as rimas conferem uma musicalidade específica à estrofe. Considerando o que você estudou sobre o slam, explique como tais características contribuem para a performance poética.
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor.
6. Releia esta estrofe do poema “Eu gostaria de escrever sem estar com raiva”.
Eu gostaria de escrever cartas de amor para mulheres negras enxergando apenas nossa imensa existência
Eu sou a menina que nasceu sem cor...
O poema “Eu sou a menina que nasceu sem c or” é o texto mais conhecido de Midria. Ele fez com que a autora ganhasse projeção nacional após ser veiculado em rede televisiva. Nesse texto, a autora discorre sobre a sua trajetória de a utorreconhecimento enquanto uma pessoa negra.
EU sou a menina que nasceu sem cor… [São Paulo: TV Cultura], 2018. 1 vídeo. (2 min). Publicado pelo canal Manos e Minas. Disponível em: www. youtube.com/wat ch?v=o6zEZP7pudQ. Acesso em: 9 set. 2024.
5. b) Resposta pessoal. O objetivo da atividade é estimular os estudantes a reconhecer que a estrutura e o encadeamento dos versos podem ser explorados de formas diferentes quando falados ou recitados.
a) Entre as afirmações a seguir, copie, no caderno, aquela que explica o recurso linguístico escolhido para projetar o eu lírico no poema e, desse modo, expressar um sentimento ao interlocutor:
I. O recurso linguístico é a forma verbal gostaria, flexionado na primeira pessoa do singular do tempo futuro do pretérito do modo indicativo, que expressa o sentido de um desejo que poderia ter ocorrido em um passado, mas não ocorreu.
II. O recurso linguístico é a forma verbal enxergar em sua forma nominal gerúndio, que expressa o sentido de evidência da grandiosidade da mulher negra.
A alternativa correta é a I.
b) Considerando a temática do poema, por que o eu lírico intenciona escrever cartas de amor para mulheres negras?
O eu lírico deseja escrever essas cartas para que as mulheres possam receber palavras de afeto, e não apenas de sofrimento.

7. a) O uso da locução deveria estar
como
que está realmente feliz, mas sim em um passado que não ocorreu.
Modalização enunciativa
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor.
Ao produzir um enunciado, o enunciador escolhe determinados recursos linguísticos que organizam seu texto em função de um querer dizer, de um projeto que ele queira ou precise dizer e com base no qual elaborará seu texto. Por meio desses recursos, o enunciador projeta seus humores, suas apreciações, seu ponto de vista e sua ironia, entre outras intencionalidades, de modo que possam ser percebidas pelo interlocutor e para que este reaja a elas. Esse fenômeno é conhecido como modalização.
O processo de modalização enunciativa envolve o uso de tempos e modos verbais, adjetivos, advérbios e entonações que expressam as intenções, opiniões e emoções do enunciador.
Os verbos são excelentes recursos linguísticos modalizadores , e o emprego estratégico de seus tempos e modos provoca diversos efeitos de sentido no texto, bem como reações no interlocutor.
7. Agora, releia os versos 46 a 58 do poema “Nunc obdurat et tunc curat”.
a) O uso da locução verbal deveria estar é um recurso modalizador. Explique seu efeito de sentido no poema.
b) Que recursos modalizam os versos “mas beatriz eu só queria / escolher uma poesia”? Que efeitos de sentido eles expressam e quais reações provocam no interlocutor?
Leia o trecho, a seguir, e responda à questão.
7. b) Mas – causa um efeito de oposição em relação ao que é dito anteriormente, provocando no leitor contradição; só queria escolher – o uso do advérbio só e de uma locução verbal com o verbo querer no pretérito imperfeito gera o sentido de desejo único e inicial, que antecede todo o restante do que ocorreu no poema. Espera-se que os estudantes possam identificar outros recursos que produzam efeitos de sentido diversos, conforme suas interpretações do poema.
‘Bum Tam Tam’ é mais complexo que Bach, afirma pesquisador musical
Professor de piano e mestre em Música, Thiago Santos [conhecido como Thiagson] faz sucesso na internet analisando o funk
[…]
O clipe da música, lançada em 2017, está entre os 50 vídeos mais vistos na história do Youtube. Para compor Bum Bum Tam Tam , Fioti utiliza um trecho de flauta de Partita em Lá Menor da composição do alemão Johann Sebastian Bach do ano de 1723. Thiagson se impressionou com a produção da canção.
‘Há muitos timbres ali que, quando você vai passar para a partitura, é muito difícil. É mais difícil que colocar uma música do Bach na partitura, por exemplo’.
‘Eu vi na partitura que o Fioti colocou umas notas que o Bach jamais colocaria, ele pegou a melodia e colocou em outro contexto, deixando ela mais envolvente e dançante, e uma porrada de camadas que parecem três orquestras tocando’, explica Thiagson, que é dono de um canal no Youtube, para onde transporta suas análises e pesquisas sobre o funk de forma didática.
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor.
CARVALHO, Igor. “Bum Bum Tam Tam” é mais complexo que Bach, afirma pesquisador musical. Brasil de Fato, São Paulo, 6 fev. 2021. Disponível em: www.brasildefato.com.br/2021/02/06/ bum-bum-tam-tam-e-mais-complexo-que-bach-afirma-pesquisador-musical. Acesso em: 9 set. 2024.
• Em seu ponto de vista, a utilização de um trecho da composição de Bach em um funk pode contribuir para que a juventude tenha curiosidade em conhecer compositores de música clássica? Explique.
Respostas pessoais. O objetivo da questão é estimular os estudantes a refletir sobre gostos e modos de acesso a diferentes estilos de música, por exemplo, a música clássica e o funk, e a questionar estereótipos como a classificação de um estilo musical – por exemplo, o funk como uma composição menos sofisticada, pois também pode utilizar elementos da erudição.
Leia o trecho do texto e, em seguida, responda às questões.

Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor.
Barbie cria boneca de cientista brasileira que sequenciou genoma da Covid-19
Biomédica brasileira Jaqueline Goes de Jesus é uma das seis profissionais que foram homenageadas com novas bonecas pelo seu trabalho
Camila Neumam, da CNN, em São Paulo 04/08/2021 às 11:20
A pesquisadora brasileira Jaqueline Goes de Jesus, que liderou o sequenciamento do genoma de uma variante do Covid-19 no Brasil, foi escolhida pela Mattel para ser uma das seis bonecas Barbie da empresa que homenageiam mulheres que fizeram a diferença na luta contra o novo coronavírus.
A empresa também desenvolveu uma Barbie inspirada na desenvolvedora britânica da vacina contra Covid-19 de Oxford/AstraZeneca, a cientista britânica Sarah Gilbert; uma boneca de Chika Stacy Oriuwa, uma psiquiatra canadense residente na Universidade de Toronto que lutou contra o racismo sistêmico na área da saúde, e uma Bárbie de Kirby White, uma médica australiana que foi a pioneira na criação de uma bata cirúrgica que pode ser lavada e reutilizada por trabalhadores da linha de frente durante a pandemia.
A enfermeira Amy O’Sullivan, que tratou do primeiro paciente com Covid-19 no Hospital Wycoff, em Nova York (EUA), e Audrey Cruz, médica da linha de frente em Las Vegas (EUA), também foram homenageadas com bonecas.
A escolha representa um novo perfil de modelos de Barbies criado pela Mattel Inc, de mulheres que representam profissões e papeis sociais, disse a empresa.
A cientista brasileira integrou a equipe que mapeou os primeiros genomas do vírus SARS-CoV-2 no Brasil em apenas 48 horas após a confirmação do primeiro caso de Covid-19 no país, bem mais rápido do que a média no resto do mundo para esse mapeamento, que foi de 15 dias.
O sequenciamento permitiu diferenciar o vírus que infectou o paciente brasileiro do genoma identificado em Wuhan, o epicentro da epidemia na China.
Jesus é doutora em Patologia Humana e Experimental, pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), e pesquisadora no Instituto de Medicina Tropical de São Paulo da Universidade de São Paulo (IMT/USP).
Ela também integra o Centro Conjunto Brasil-Reino Unido para Descoberta, Diagnóstico, Genômica e Epidemiologia de Arbovírus (Brazil-UK Centre for Arbovirus Discovery, Diagnosis, Genomics and Epidemiology).
NEUMAM, Camila. Barbie cria boneca de cientista brasileira que sequenciou genoma da Covid-19. CNN, São Paulo, 4 ago. 2021. Disponível em: www.cnnbrasil.com.br/internacional/barbie-cria-boneca-de -cientista-brasileira-que-sequenciou-genoma-da-covid-19/. Acesso em: 6 out. 2024.
1. Jaqueline Goes de Jesus é uma cientista e biomédica brasileira que coordenou a equipe responsável por sequenciar o genoma do SARS-CoV-2, vírus causador da covid-19.
2. O sequenciamento foi importante para entender o modo como o vírus se espalha e para identificar alterações genéticas que influenciam sua evolução. Isso ajudou cientistas e autoridades da área da saúde a acompanhar a propagação do vírus, identificar novas variantes e criar vacinas para combatê-lo.

Mulheres negras na ciência costumam enfrentar barreiras como a sub-representação, a falta de pessoas de referência e a discriminação racial e de gênero. A atividade é também uma oportunidade para que os estudantes relacionem os conteúdos estudados no capítulo com os conhecimentos já adquiridos na área de Ciências da Natureza.
Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes percebam que a criação de uma boneca
Barbie em homenagem a Jaqueline Goes de Jesus visibiliza as contribuições das mulheres na ciência, especialmente de mulheres negras. Essa homenagem desafia estereótipos de gênero e raça, promovendo a diversidade e inspirando meninas a seguir carreiras científicas. Além disso, ajuda a normalizar a presença de mulheres negras nas áreas em que historicamente foram subrepresentadas.
1. Quem é Jaqueline Goes de Jesus (1989-) e qual foi a sua contribuição para a pesquisa sobre o coronavírus?
2. Qual foi a importância do sequenciamento do genoma do SARS-CoV-2 realizado pela equipe de Jaqueline Goes de Jesus e como suas descobertas impactaram os avanços no combate à covid-19?
3. Considerando os textos estudados no decorrer do capítulo e o contexto da reportagem lida, quais são as possíveis barreiras e desafios enfrentados por mulheres negras na ciência? Explique.
4. Em seu ponto de vista, por que é significativo que a empresa criadora da boneca Barbie tenha fabricado uma versão em homenagem a cientistas como Jaqueline Goes de Jesus?
5. Em sua percepção, qual é o impacto de existir uma boneca Barbie que representa uma cientista negra na vida de meninas negras e na sociedade em geral?
A mulher que ajudou a Nasa a ir à Lua
Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes reflitam sobre a importância de modelos de representatividade, discorrendo, por exemplo, que a boneca pode servir como um modelo positivo de identificação e inspiração para meninas negras. Isso pode estimular meninas negras a seguir carreiras relacionadas à ciência, além de promover a diversidade e combater preconceitos raciais e de gênero.
Katherine Johnson (1918-2018) foi uma menina curiosa e brilhante, nasceu em Virgínia (USA). Cursou Matemática e Francês na Universidade Estadual de West Virginia e atuou como professora em uma escola pública para negros.
A vida mudou para Katherine em 1952, quando ficou sabendo que o Laboratório Langley da Naca, agência antecessora da Nasa, estava com vagas abertas na seção de computação da ala oeste (onde trabalhavam os afro-americanos). Nos anos 1950, havia leis de segregação nos Estados Unidos, mas ela nunca se deixou diminuir e se considerava tão boa quanto qualquer outro profissional. No entanto, sofreu racismo de colegas de trabalho brancos que exigiam que ela usasse uma cafeteira diferente da deles.
A facilidade de Katherine para a matemática era impressionante. Ela foi responsável por calcular a trajetória dos primeiros lançamentos espaciais, operações que, na atualidade, são desenvolvidas por computadores e ajudou a colocar em órbita a Apolo 11, além de possibilitar que o primeiro homem pisasse na Lua em 1969.
Ela trabalhou no Laboratório Langley até 1989, participou de diversos projetos e escreveu, sozinha ou em parceria, mais de 20 estudos científicos. Sua história foi contada em livro e, depois, recriada no filme Estrelas além do tempo (2016).

Na seção Estudo Literário, você leu e analisou poemas de duas mulheres negras, Jarid Arraes e Midria, que refletem sobre a falta de representatividade e como ela se relaciona com a temática da negritude e do feminino. Agora, você lerá um relato de experiência vivida da jornalista Bianca Santana (1984-), que apresenta o olhar de uma jovem mulher para si mesma e para a construção da própria identidade.

Resposta pessoal. O relato de experiência vivida pode estar presente nas conversas entre amigos, nas apresentações em palestras, nos depoimentos em noticiários da televisão etc.
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor.
Antes de iniciar a leitura do texto, discuta com a turma as questões a seguir.
• O relato de experiência vivida é um gênero textual bastante usual no cotidiano. De acordo com os conhecimentos prévios que você tem sobre esse gênero, em que situações comunicativas é possível encontrá-lo?
• O relato também pode estar presente em diferentes suportes, como: revistas, jornais, áudios recebidos em aplicativos de compartilhamento de mensagens, nas redes sociais. Cite um suporte por meio do qual você tenha tido acesso a um relato de experiência vivida.
• Observe o título do relato de experiência vivida que você lerá nesta seção. Com base nessa observação, crie uma hipótese: qual experiência será relatada por Bianca Santana?
Resposta pessoal. Permita aos estudantes que criem livremente as suas hipóteses, que serão recuperadas após a leitura.
Tenho trinta anos, mas sou negra há apenas dez. Antes, era morena. Minha cor era praticamente travessura do sol. Era morena para as professoras do colégio católico, coleguinhas – que talvez não tomassem tanto sol – e para toda a família, que nunca gostou do assunto. ‘Mas a vó não é descendente de pessoas escravizadas?’, eu insistia em perguntar. ‘E de indígena e português também’, era o máximo que respondiam sobre as origens da avó negra. Eu até achava bonito ser tão brasileira. Talvez por isso aceitasse o fim da conversa. Em agosto de 2004, quando fui fazer uma reportagem na Câmara Municipal de São Paulo, passei pela rua Riachuelo, onde vi a placa ‘Educafro’. Já tinha ouvido falar sobre o cursinho comunitário, mas não conhecia muito bem a proposta. Entrei. O coordenador pedagógico me explicou a metodologia de ensino com a cumplicidade de quem olha um parente próximo. Quando me ofereci para dar aulas, seus olhos brilharam. Ouvi que, como a maioria dos professores eram brancos, eu seria uma boa referência para os estudantes negros. Eles veriam em mim, estudante da Universidade de São Paulo e da Faculdade Cásper Líbero, que há espaço para o negro em boas faculdades. Saí sem entender muito bem o que tinha ouvido. Fui até a Câmara dos vereadores, fiz uma entrevista e segui minha rotina. Comecei a reparar que nos lugares que frequento as pessoas também não tomam tanto sol. O professor do Educafro toma. Será por isso que ele me tratou com tanta cumplicidade?
Resposta pessoal. É possível que a maioria dos estudantes já tenha recebido, por exemplo, uma mensagem de texto ou áudio na qual um amigo relata uma experiência vivida. Caso julgue oportuno, peça aos estudantes que comentem essa experiência com a turma para que todos percebam a presença do gênero em suas vidas e os diversos suportes por meio dos quais ele pode ser compartilhado.

Bianca Santana é jornalista, escritora e professora. Doutora em Ciência da Informação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP), com uma tese sobre memória e escrita de mulheres negras, possui uma importante atuação no movimento feminista negro do Brasil.

■ Escritora Bianca Santana em São Paulo, 2023.
2. a) No relato, a jornalista Bianca Santana apresenta os acontecimentos que a fizeram refletir sobre sua identidade e negritude. Apenas após um encontro com o coordenador pedagógico do cursinho Educafro é que ela se percebeu como uma mulher negra. Por isso, é possível afirmar que a negritude é uma construção social, e ela se percebeu assim a partir do ano de 2004.
4. a) Antes de se descobrir negra, Bianca se enxergava como uma pessoa morena, uma identidade que atribuía ao efeito do sol em sua pele.
4. b) Bianca enxergava o seu tom de pele como uma “travessura do sol”. Na visão dela, por isso era mais morena que a maioria das pessoas com quem convivia.
Pensei muito e por muito tempo. Por que o fato de sermos negras e negros nunca foi falado em minha família? Senti que a ascensão social tinha clareado nossa identidade. Mais tarde percebi que o medo das tantas violências sofridas por pessoas negras no Brasil foi outra razão para nosso branqueamento. Óbvio que somos negros. Se nossa pele não é tão escura, nossos traços, cabelos, vivências, história revelam o grupo social a que pertencemos. Minha mãe, formada economista, trabalhando como vendedora de uma g rande empresa, foi branqueada como os jogadores de futebol negros que no século 19 passavam pó de arroz no rosto para serem aceitos nos clubes. Eu fui branqueada em casa, na escola e na universidade. Sigo causando espanto ao me reafirmar negra no mercado de trabalho. O branqueamento apaga de nossas memórias as conquistas que nós, pessoas negras, tivemos ao longo da história do Brasil. Conquistas individuais e coletivas. Afirmo com alegria que sou negra há mais de dez anos. E agradeço ao Educafro, por me provocar, e ao professor Wellington Andrade, que na faculdade me fez o convite para a reflexão profunda sobre minhas origens.
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor.
SANTANA, Bianca. Quando me descobri negra. In: SANTANA, Bianca. Quando me descobri negra . São Paulo: Fósforo, 2023. p. 23-26.
1. A hipótese criada por você, no último item do boxe Primeiro olhar, se confirmou após a leitura do relato “Quando me descobri negra”? Explique a sua resposta.
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
2. Leia novamente a frase que inicia o relato de experiência vivida apresentado anteriormente.
Tenho trinta anos, mas sou negra há apenas dez.
a) Com as informações acerca dos acontecimentos apresentados no relato, explique essa frase.
2. b) Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
b) De que maneira essa frase se relaciona ao título do relato?
c) Q ual impacto o título e a primeira frase do relato lhe causaram? Por quê?
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
3. A experiência de descobertas e reflexões relatada por Bianca Santana foi motivada por um encontro.
a) Onde e com quem aconteceu esse encontro?
No cursinho comunitário Educafro, com o coordenador pedagógico do curso.
b) Com suas palavras, relate o que ocorreu nesse encontro para motivar a mudança de percepção da escritora sobre si.
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
4. Leia, novamente, este trecho do relato e responda às questões a seguir. Comecei a reparar que nos lugares que frequento as pessoas também não tomam tanto sol. O professor do Educafro toma. Será por isso que ele me tratou com tanta cumplicidade?
a) De acordo com o início do texto, como Bianca Santana se enxergava antes de se descobrir negra?
b) Como esse trecho se relaciona à maneira como Bianca se enxergava antes?

5. A seguir, leia o trecho de um texto jornalístico que se propõe a explicar o termo colorismo. Depois, responda às questões.
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
Colorismo: saiba o que significa esta forma de racismo
Saiba mais sobre o termo colorismo, também conhecido por pigmentocracia, e suas consequências
O termo colorismo tem aparecido com mais frequência em discussões sobre tipos de racismo no Brasil. Apesar do conceito não ser novo, nas últimas décadas o movimento negro e a sociedade têm se preocupado mais com suas consequências.
Compreender o que é essa forma de preconceito, também chamada de pigmentocracia , contribui para o combate à discriminação e ajuda a entender as diferenças de tratamento que as pessoas negras recebem ou mesmo razões por trás de desigualdades entre os negros.
O que é colorismo ou pigmentocracia?
Colorismo ou pigmentocracia é um conceito no qual pessoas negras são diferenciadas de acordo com o seu tom de pele ou traços físicos, também chamado de fenotípicos. Esse tipo de preconceito também pode ser usado contra outros grupos étnicos.
No colorismo, o objetivo é diferenciar traços e tons de pele entre negros e, a partir dessas diferenças, definir como uma pessoa será tratada. A depender dos traços de negritude, uma pessoa negra pode sofrer diferentes formas de racismo durante a vida.
Com o colorismo, é estabelecida uma escala de cor com variações entre a pele branca e a pele negra. Quanto mais uma pessoa negra se aproxima do que é entendido como branco, maior tende a ser a tolerância dessa pessoa em diferentes espaços sociais.
Porém, quanto mais escuro for o tom de pele de uma pessoa negra ou mais traços de negritude ela tiver, como cabelo crespo ou nariz e lábios mais largos e grossos, mais ela tende a sofrer racismo, preconceito e exclusão.
Diferenças entre colorismo e racismo
O racismo é um tipo de opressão e discriminação voltado a todas as pessoas de uma determinada raça, como ocorre com a raça negra no Brasil. Já o colorismo é um desdobramento do racismo e diz respeito ao tratamento que alguém recebe de acordo com a tonalidade da pele ou aspectos físicos.
Com isso, o racismo ocorre com pessoas negras de forma geral, mas o colorismo cria um tipo de tolerância a quem é considerado
Relato de experiência vivida oral e escrito
O relato de experiência vivida é um gênero textual que pode ser exercitado por meio da fala ou da escrita. Em atividades cotidianas e profissionais, é comum as pessoas usarem o relato oral, que não obrigatoriamente respeita uma estrutura fixa, como ocorre no caso do relato escrito.

Respostas pessoais. É importante que os estudantes percebam que houve uma preocupação da instituição com a preservação da própria imagem, procurando evitar a associação com as opiniões de que seja um clube que teve atitudes racistas em sua história.
mais próximo de ser uma pessoa branca. Já para pessoas pretas, o colorismo é um recurso de exclusão e opressão.
Para tentar amenizar os efeitos do racismo e da discriminação, muitas pessoas negras adotaram práticas como alisar os cabelos ou esconder traços de negritude com maquiagem para se aproximar do tom de pele e traços brancos.
COLORISMO: saiba o que significa esta forma de racismo. Terra, [São Paulo], 25 set. 2023. Disponível em: www.terra.com.br/nos/colorismo-saiba -o-que-significa-esta-forma-de-racismo,c7afe7a7cc6b2a0be3b1806e0f57c0b3lfqfzzmo.html?utm_source=clipboard. Acesso em: 9 set. 2024.
a) Você já conhecia o conceito de colorismo? Se sim, onde obteve essa informação? Comente com os colegas.
6. Bianca Santana começa o relato explicando que, antes de se descobrir como uma mulher negra, se enxergava como uma pessoa morena, provavelmente pelo tom de pele mais claro que o de outras pessoas negras.
b) De acordo com o texto, o que é colorismo? E de que modo ele atua como fator de desigualdade entre as pessoas negras?
5. a) Respostas pessoais. Incentive os estudantes a compartilhar seus conhecimentos prévios com os colegas, atentando para a confiabilidade das informações e fontes.
6. De que maneira o conceito de colorismo está presente no relato de Bianca Santana?
7. Releia o penúltimo parágrafo do texto de Bianca Santana e transcreva, no caderno, o(s) trecho(s) que indicam de que modo o colorismo agiu na maneira como a família dela se enxergava.
8. Em sua opinião, como o colorismo dificultou a busca de Bianca por sua identidade?
9. No penúltimo parágrafo, Bianca faz uma comparação para explicar o processo de branqueamento da mãe. Com quem a comparação é feita? Explique-a.
9. Bianca explica que a mãe teve de sofrer um processo de branqueamento para ser aceita como vendedora de uma grande empresa. Para explicar essa realidade, Bianca a compara aos jogadores de futebol negros no século XIX, que passavam pó de arroz no rosto para serem aceitos nos clubes.
Ao comparar o processo vivenciado por sua mãe ao de jogadores de futebol do século XIX, no penúltimo parágrafo de seu texto, Bianca Santana retoma uma história que, ao longo dos anos, ganhou várias versões e acabou se tornando a razão da disseminação de discursos contra times de futebol: o uso do pó de arroz.
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor
CIDADANIA
Em 13 de Maio de 1914, Carlos Alberto, de 17 anos, se preparava para atuar pelo Fluminense contra o seu ex-clube, América, pelo Campeonato Carioca daquele ano. O jogador, que era o único preto da equipe, foi visto com um pó branco no rosto, que durante a partida começou a se desmanchar em seu suor, abrindo brecha para a torcida Americana provocar o recém-saído da equipe: ‘Pó de Arroz! Pó de Arroz!’, gritava a torcida.
5. b) É um conceito que explica a diferenciação que pessoas negras sofrem, de acordo com o tom de pele ou os traços físicos. Quanto mais escuro o tom de pele de uma pessoa negra e mais traços de negritude ela tiver, mais ela tende a sofrer racismo.
8. Resposta pessoal. É importante que os estudantes percebam que, ao ser considerada morena e não negra, Bianca Santana sofreu por vivenciar as consequências do colorismo, demorando para se reconhecer e se aceitar como negra.
EVANGELISTA, Vinícius. Cultura do pó de arroz se torna símbolo antirracista. AGEMT, [São Paulo], 16 nov.2023. Disponível em: https://agemt.pucsp.br/noticias/ cultura-do-po-de-arroz-se-torna-simbolo-antirracista. Acesso em: 9 set. 2024.
• No Dia da Consciência Negra do ano de 2023, o clube de futebol Fluminense publicou um vídeo em suas redes sociais para explicar a origem do termo pó de arroz com a hashtag #timedetodos. Em sua opinião, por que o clube se preocupou em esclarecer a origem do termo em suas redes sociais? Compartilhe suas impressões com os colegas.
7. “Senti que a ascensão social tinha clareado nossa identidade. […] Se nossa pele não é tão escura, nossos traços, cabelos, vivências, história revelam o grupo social a que pertencemos.”
• Em sua opinião, ainda que a comparação feita por Bianca tenha origem em uma história que apresenta diversas versões, ela ainda é válida como argumento antirracista em seu texto? Por quê?
Respostas pessoais. É importante permitir que os estudantes construam a sua própria opinião e, consequentemente, os argumentos para sustentá-la. Procure apenas lembrá-los de que, por mais que o clube de futebol queira desvincular a sua imagem da associação com discursos preconceituosos, a realidade imposta por uma sociedade racista provavelmente existia dentro do clube.
10. b) Resposta pessoal. Incentive os estudantes a refletir sobre as diferentes experiências de recepção do relato de experiência vivida. Procure citar diversos suportes em que o gênero é mais encontrado. Por fim, converse com a turma sobre o suporte livro, que atualmente também pode ser acessado por meio eletrônico. Entre outras características, esse suporte permite uma leitura que respeita o tempo do leitor e que pode ser repetida. Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor.
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor.
10. a) O relato foi retirado do livro intitulado Quando me descobri negra, de autoria de Bianca Santana, publicado pela editora paulistana Fósforo em 2023.
10. Na abertura da seção Estudo do Gênero Textual, você refletiu sobre os diferentes tipos de suporte por meio dos quais o relato pode ser apresentado.
a) Observe a fonte indicada ao final do texto e responda: de que suporte o relato lido foi retirado?

b) Compartilhe com os colegas de turma as suas impressões sobre a seguinte questão: de que maneira a mudança de suporte – jornais, podcasts, áudios e vídeos, entre outros – pode alterar a experiência do leitor, do usuário ou do espectador ao receber o relato?
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor
11. A escrita do relato de experiência vivida, muitas vezes, une a narrativa de acontecimentos à reflexão sobre eles.
a) Com base em temas relacionados à sua vida, Bianca Santana conclui o seu relato com uma análise sobre a comunidade negra, ampliando, assim, a sua reflexão. Qual é essa análise?
b) Ler o relato incentivou você a refletir sobre suas próprias experiências?
De que maneira? Compartilhe as suas impressões com os colegas.
O gênero textual relato de experiência vivida
O gênero relato de experiência vivida pertence ao campo de atuação da vida pessoal e está no domínio da documentação das experiências humanas. Tem como finalidade, portanto, compartilhar experiências vividas e acontecimentos que possam gerar interesse e/ou motivar a reflexão em quem os recebe. Por isso, além de apresentar vivências, é comum que esse gênero textual utilize sua narrativa para propor uma reflexão acerca de um tema.
Para que a finalidade do relato de experiência vivida seja alcançada, predomina a tipologia narrativa, na qual:
• os acontecimentos costumam ser apresentados em determinada ordem, respeitando a sequência de fatos;
• s ão apresentadas pessoas, assim como personagens;
• marcadores temporais organizam a vivência relatada;
• os acontecimentos se desdobram em um ou mais espaços.
Os leitores ou espectadores desses relatos costumam ser pessoas interessadas em conhecer as vivências de outros, inclusive para pensar sobre as suas próprias vidas.
Quando me descobri negra

■ Capa de livro.
Em seu livro, Bianca Santana relata a sua trajetória de autoaceitação, tocando em temas como o uso de turbante e produtos químicos capilares e o reconhecimento de traços da sua ancestralidade. Para isso, a jornalista mescla trechos de relatos à história recente do país, com pinceladas de ficção.
SANTANA, Bianca. Quando me descobri negra . São Paulo: Fósforo, 2023. Capa.
11. a) A análise de que o branqueamento apaga as memórias e as conquistas – tanto individuais quanto coletivas – das pessoas negras.
12. c) Presente e pretérito. Chame a atenção dos estudantes para o fato de que o tempo presente normalmente é empregado nos momentos de reflexão acerca do tema, enquanto o pretérito é empregado nos relatos de acontecimentos vivenciados.
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor
12. Agora, releia o relato dando especial atenção aos verbos empregados nele para responder às questões a seguir.
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
a) Em que pessoa verbal o relato lido foi construído? Copie dois trechos do relato que justifiquem a sua resposta.
b) O que a escolha dessa pessoa verbal indica sobre a subjetividade e o ponto de vista presentes no texto?
c) A maioria dos verbos apresentados no texto são empregados em dois tempos verbais. Quais são eles?
11. b) Respostas pessoais. Acolha os relatos dos estudantes com o devido cuidado e incentive-os a compartilhar suas experiências garantindo que eles estão em um lugar onde não há espaço para comentários preconceituosos ou racistas. Se julgar necessário, informe os estudantes de que a Lei no 7.716/1989, conhecida como Lei do Racismo, pune todo tipo de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.
12. a) Primeira pessoa do singular. É interessante que os estudantes prestem atenção nas formas verbais e nos pronomes utilizados. Possibilidades de resposta: “Tenho trinta anos, mas sou negra há apenas dez”; “Eu fui branqueada em casa, na escola e na universidade”.
12. b) O enunciador se projeta no texto como a pessoa cuja vida é relatada, ocupando o foco da narrativa, que é composta na primeira pessoa do discurso. O texto, portanto, é construído com base no ponto de vista de quem vivenciou os fatos. É importante que os estudantes percebam que essa é uma prática comum na escrita do gênero textual relato de experiência vivida.

13. No quadro a seguir, observe os acontecimentos que são apresentados no relato lido.
• Após a conversa, Bianca foi à Câmara Municipal de São Paulo e fez a entrevista que precisava para a sua reportagem.
• Na época do colégio católico, Bianca Santana era identificada como morena.
• Bianca começou a reparar que, nos lugares que frequentava, as pessoas não eram tão parecidas com ela.
• No mesmo dia, Bianca conversou com o coordenador pedagógico do Educafro.
• Ao perguntar da avó negra, a família de Bianca dizia que ela também era descendente de indígenas e portugueses.
• Em 2004, Bianca passou pela Rua Riachuelo, onde viu a placa do cursinho Educafro.
13. a) Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
a) No caderno, liste os acontecimentos do relato na ordem em que aparecem.
b) Observe a lista de acontecimentos e identifique as marcas temporais presentes nela.
“Na época do colégio católico”; “Em 2004”; “No mesmo dia”; “Após a conversa”.
c) Na mesma lista, quais lugares são apresentados?
d) Na lista, quais pessoas são apresentadas?
O colégio católico; a Rua Riachuelo; o cursinho Educafro; a Câmara Municipal de São Paulo. Bianca, sua avó e o coordenador pedagógico do Educafro.
O relato de uma experiência
Nos relatos de experiência vivida, normalmente são apresentados diversos acontecimentos vivenciados por uma pessoa, mas é possível também que o texto desse gênero seja construído com base em um recorte de um momento da vida ou em uma situação marcante. É o que ocorre no relato lido, no qual são apresentados alguns acontecimentos sobre a descoberta de identidade de Bianca Santana, mas o encontro dela com o coordenador pedagógico da Educafro ganha um destaque maior.
14. Releia os trechos a seguir, extraídos do relato de Bianca Santana:
O verbo está empregado no futuro do pretérito do modo indicativo, projetando no sujeito eles (os estudantes do cursinho) uma ação que poderia ocorrer, uma probabilidade.
A voz verbal é a passiva. O efeito de sentido é o ocultamento do sujeito responsável pela ação em foco, o branqueamento.
I. Eles veriam em mim, estudante da Universidade de São Paulo e da Faculdade Cásper Líbero, que há espaço para o negro em boas faculdades.
II. Minha mãe, formada economista, trabalhando como vendedora de uma grande empresa, foi branqueada como os jogadores de futebol negros [ ].
III. Eu fui branqueada em casa, na escola e na universidade.
IV. Af irmo com alegria que sou negra há mais de dez anos.
V. Óbvio que somos negros.
a) No Trecho I, o verbo empregado em determinado tempo e modo cria um efeito de sentido no texto. Explique-o.
b) Os trechos II e III usam uma voz verbal específica para modalizar o discurso. Qual é essa voz e que efeito de sentido ela denota?
c) No Trecho IV, que expressão caracteriza o sentimento que o enunciador – Bianca – quer expor?
A expressão com alegria expõe uma apreciação da enunciadora em relação à afirmação que faz em um momento presente e que perdura no tempo.
d) Que sentido a palavra óbvio expressa no discurso de Bianca? Sentido de certeza.
Expressões modalizadoras podem ser dos seguintes tipos. Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor
Modalização lógica

Assertivos
Expressa uma avaliação sobre o valor e as condições de verdade de uma afirmação.
Quase asseverativos
Asseguram, certificam, provam, atestam.
Exemplos: realmente, naturalmente, claro, é certo, é lógico, sem dúvidas, é, não é.
Inserem-se no campo da possibilidade.
Delimitam um viés de entendimento sobre o assunto.
Exemplos: talvez, possivelmente, provavelmente, eventualmente.
Exemplos: linguisticamente falando, matematicamente, geograficamente.
Modalização deôntica
Expressa obrigação, proibição ou permissão.
Exemplos: obrigatoriamente, necessariamente, não deve, não pode, deve apresentar.
Modalização afetiva
Expressa emoções do enunciador diante do assunto do discurso, com marcas de seus posicionamentos e preferências, deixando de lado considerações de caráter epistêmico ou deôntico.
Expõem sentimentos e estados de espírito do enunciador.
Exemplos: infelizmente, curiosamente, surpreendentemente.
Incluem o coenunciador como participante do mesmo sentimento e estado de espírito que está expressando.
Exemplos: sinceramente, honestamente, lamentavelmente.
Além dos verbos, diversas outras palavras podem ser recursos modalizadores; por isso, ao se produzirem textos orais ou escritos, é importante refletir sobre as escolhas vocabulares, para fazê-las de modo intencional e de acordo com a relação que se deseja estabelecer com o interlocutor, suscitando as reações que se deseja dele. Do mesmo modo, ao se ler um texto, é preciso dar atenção aos recursos linguísticos que agem como modalizadores e perceber os efeitos de sentido e as reações que eles despertam no leitor ao longo da leitura. Na literatura, a modalização é construída pela voz narrativa ou pelo eu lírico, exercendo influência sobre o leitor.
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor

Camila Sosa Villada nasceu em Córdoba (Argentina). É escritora e atriz, e sua produção envolve os direitos das pessoas LGBTQIAPN+. Pelo romance O parque das irmãs magníficas (2019), traduzido para mais de vinte idiomas, ela ganhou os prêmios Sor Juana Inés de la Cruz, Finestres de Narrativa e Grand Prix de l’Héroïne Madame Figaro.

■ Escritora Camila Sosa Villada em São Paulo, 2024.
daguerreótipo: equipamento responsável pela produção de uma imagem fotográfica sem negativo.
ADRIANO VIZONI/FOLHAPRESS
O gênero relato de experiência vivida conta com um insumo indispensável: as recordações que o escritor preserva dos acontecimentos. A seguir, leia o trecho do relato escrito pela autora argentina Camila Sosa Villada (1982-), que aborda o exercício da escrita sustentado pela memória.
Toda recordação espera ser escrita. A gente vive nossa vida com o espírito de escrever. Mas, nesse sentido, a escrita fica muito atrás da memória, é impossível atingir a velocidade da memória, e ainda mais atingi-la enquanto se escreve. Os pensamentos são rápidos, muito velozes para esse ofício que continua andando no compasso de uma letra após a outra, uma palavra dando a mão para outra, no ritmo de uma mulher cansada. A gente senta para escrever e entra nesse tempo lento que nunca chega ao paradeiro da memória.
A memória sustenta a escrita. Escrever é escrever recordações.
Para escrever, vou atrás dessas lembranças, inclusive de sonhos e expectativas que nada mais são do que recordações. Escrevo a partir de mim e para mim. Algumas vezes compartilho a mim mesma, compartilho o que escrevo, mas isso não significa que eu me abra para o mundo, e sim que trago visitantes para minha intimidade. Prefiro que o leitor entre em mim a ter de buscá-lo. Não poderia fazer isso, sou o tipo de escritora que parece um receptáculo. Não vou às ruas, nem às pessoas ou às reuniões.
Eu os convido a viajar dentro de mim, e é assim desde que aprendi a falar e a memória começou a se movimentar.
Eu poderia dizer que existem dois tipos de escritores: os que escrevem fantasias e os que escrevem recordações. Eu estou entre os últimos.
Sempre se trata de mim.
Tudo o que sou capaz de escrever já existe, meu trabalho é roubar da memória uma impressão, um daguerreótipo. Roubar do passado um pedacinho da sua construção e escrever.
Eu sento diante do computador e é como o início de uma viagem. Às vezes essa viagem só serve para não escrever, nada se extrai de algumas expedições. Escrevo e apago, como antes escrevia e jogava no lixo o que escrevia. É tão lindo. É tão bom destruir o que está escrito, porque a gente tem a sensação de destruir a si mesma. Eu chamo isso de viagem inútil, o que está na cabeça e não pode ser escrito. A vida que não se escreve.
VILLADA, Camila Sosa. A viagem inútil: trans/escrita. Tradução: Silvia Massimini Felix. São Paulo: Fósforo, 2024. p. 28-29.
1. a) Os escritores que escrevem fantasias e os que escrevem recordações. Os que escrevem fantasias criam histórias e universos imaginários que podem ter pouca relação com suas experiências pessoais diretas. Os que escrevem recordações baseiam seus textos em memórias e experiências pessoais, refletindo sobre o que viveram e o que essas lembranças significam para eles.
1. De acordo com a autora Camila Sosa Villada, existem no mundo dois tipos de escritores.
a) Quais são os dois tipos de escritores que ela identifica? Explique brevemente cada tipo.
b) Você concorda com as duas categorias de escritores mencionadas pela autora? Em sua opinião, existem outras categorias que poderiam ser elencadas? Justifique sua resposta com argumentos.
c) Considerando os dois trechos de relatos de experiência vivida lidos por você, em qual categoria Camila Sosa Villada e Bianca Santana se enquadram? Por quê?

2. Releia, a seguir, um trecho do relato de experiência vivida de Camila Sosa Villada.
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
Toda recordação espera ser escrita. A gente vive nossa vida com o espírito de escrever. Mas, nesse sentido, a escrita fica muito atrás da memória, é impossível atingir a velocidade da memória, e ainda mais atingi-la enquanto se escreve. Os pensamentos são rápidos, muito velozes para esse ofício que continua andando no compasso de uma letra após a outra, uma palavra dando a mão para outra, no ritmo de uma mulher cansada . A gente senta para escrever e entra nesse tempo lento que nunca chega ao paradeiro da memória.
a) O trecho destacado apresenta duas figuras de linguagem: uma de palavra e a outra de pensamento. Retomando seus conhecimentos acerca desse conteúdo, quais são elas? Transcreva-as.
b) Essas figuras são utilizadas para descrever uma ação. Qual é ela?
c) No texto, a autora usa diversos recursos expressivos para comparar o tempo da memória ao tempo da escrita. Explique essa comparação.
d) Você, provavelmente, já teve a experiência de escrever utilizando recordações de sua vida. Você concorda com Camila Sosa Villada a respeito dos diferentes tempos da escrita e da memória? Compartilhe suas experiências e impressões com os colegas.
O relato de experiência vivida e o diário apresentam relações de semelhanças entre si, mas têm finalidades diferentes. Em ambos, há a narrativa de acontecimentos, porém a finalidade do relato é apresentá-los a um leitor, enquanto a do diário é registrar fatos e reflexões que, normalmente, não são compartilhados. Além disso, o relato tende a ser um registro formal e compartilhado de acontecimentos, enquanto o diário muitas vezes é informal e, quase sempre, íntimo.
3. No último parágrafo do trecho, Camila Sosa Villada se refere a uma experiência como “a viagem inútil”. A qual experiência ela se refere? Você já passou por algo semelhante em seu processo de escrita? Compartilhe as suas impressões com os colegas.
2. b) A ação de escrever.
3. Ela se refere à experiência de escrever algo e apagar ou jogar no lixo, a “vida que não se escreve”. Respostas pessoais.
No Capítulo 2 deste volume, você teve a oportunidade de estudar algumas figuras de linguagem , recursos expressivos da língua, e aprofundar os conhecimentos sobre algumas figuras de palavras , como a metáfora. Além delas, existem as figuras de pensamento, as de sintaxe e as de som ou harmonia.
1. b) Respostas pessoais. Comente com os estudantes que, em seu relato, a autora apresenta a sua opinião a respeito dessas categorias de autores e desenvolve argumentos para sustentá-la, por isso eles podem fazer um exercício opinativo similar, desde que se baseiem em argumentos para sustentá-lo.
1. c) Na de escritoras que escrevem recordações. No texto de Bianca Santana, são apresentados acontecimentos de que a autora se recorda, relacionados à sua trajetória como mulher negra; já no texto de Camila Sosa Villada, são apresentadas as recordações da autora acerca do seu exercício de escrita.
2. a) “uma palavra dando a mão para outra”: figura de pensamento –personificação; “no ritmo de uma mulher cansada”: figura de palavra – metáfora. Se necessário, recupere com os estudantes os conteúdos acerca das figuras de linguagem, estudados ao longo do Ensino Fundamental – Anos Finais.
2. c) De acordo com Camila Sosa Villada, a escrita não consegue acompanhar a velocidade da memória. Os pensamentos são muito rápidos, enquanto a escrita é mais lenta.
2. d) Respostas pessoais. É possível que, ao longo do Ensino Fundamental – Anos Finais, os estudantes tenham exercitado a produção de gêneros textuais como diário e relato de experiência vivida ou pessoal, o que pode ter possibilitado a eles compartilhar e refletir sobre os acontecimentos vivenciados.

As professoras do colégio católico e as coleguinhas.
Confere efeito de dúvida, mas remonta a uma incerteza que a enunciadora tinha no
Um sentimento de justificativa para a própria atitude, como se ela estivesse resignada ou conformada em não insistir nas conversas com a família sobre sua autoidentificação como mulher negra. Veja respostas e comentários nas Orientações para o
Sim, porque implica em empregar o verbo como forma de criar uma dúvida em relação ao próprio posicionamento omisso diante da posição da família.
Nos textos lidos nas seções Estudo Literário e Estudo do Gênero Textual, as análises linguísticas tiveram como foco a investigação dos recursos linguísticos responsáveis pela projeção da intencionalidade, ou seja, do querer dizer de seu produtor, as chamadas expressões modalizadoras . Esta seção segue explorando a construção da modalização discursiva, centrando-se na compreensão do modo verbal subjuntivo e de seus tempos, assim como na investigação desses verbos e da voz passiva, e do modo imperativo
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor
Os modos verbais expressam, eles próprios, sentidos ampliados pelo emprego de seus tempos. O indicativo, como estudado no Capítulo 4, é o modo das certezas, do real. Já o subjuntivo lida com incertezas, desejos, hipóteses e situações não concretizadas.
1. Releia este trecho do primeiro parágrafo do relato de experiência
“Quando me descobri negra”.
Tenho trinta anos, mas sou negra há apenas dez. Antes, era morena. Minha cor era praticamente travessura do sol. Era morena para as professoras do colégio católico, coleguinhas – que talvez não tomassem tanto sol – e para toda a família, que nunca gostou do assunto.
a) O trecho em destaque apresenta uma construção no modo subjuntivo. Quem são as pessoas “que talvez não tomassem tanto sol”?
b) Que efeito de sentido o emprego desse modo verbal confere ao trecho?
c) Qual outro termo do trecho apresenta o mesmo efeito de sentido do modo verbal?
O termo talvez
2. Agora, leia o restante do primeiro parágrafo e responda às questões a seguir.
‘Mas a vó não é descendente de pessoas escravizadas?’, eu insistia em perguntar. ‘E de indígena e português também’, era o máximo que respondiam sobre as origens da avó negra. Eu até achava bonito ser tão brasileira. Talvez por isso aceitasse o fim da conversa.
a) Considerando a temática do relato, a escolha do verbo no subjuntivo, e não no indicativo, revela qual sentimento do enunciador?
b) O sentido identificado no item anterior pode ser compreendido como modalização? Explique considerando também o assunto do texto.
Subjuntivo e seus tempos
Por ser um modo verbal que expressa dúvidas e incertezas, o subjuntivo e seus tempos não indicam ações precisas. Observe, no esquema a seguir, os tempos e suas conjugações.
Tempos verbais do modo subjuntivo

Presente
que eu aceite que tu aceites que ele/ela aceite que nós aceitemos que vós aceiteis que eles/elas aceitem
Pretérito
se eu aceitasse se tu aceitasses se ele/ela aceitasse se nós aceitássemos se vós aceitásseis se eles/elas aceitassem
quando eu aceitar quando tu aceitares quando ele/ela aceitar quando nós aceitarmos quando vós aceitardes quando eles/elas aceitarem
Pode ser construído com que ou se
Pode ser construído com quando , que ou se
Em nível sintático, o subjuntivo é muito utilizado nas relações de subordinação, ou seja, em orações que dependem de outra à qual se ligam para fazer sentido. É o que ocorre, por exemplo, no seguinte trecho de A viagem inútil: “[…] mas isso não significa que eu me abra para o mundo [ ]”.
O subjuntivo também pode aparecer de forma independente, deixando partes de sua estrutura inferidas, como é o caso deste trecho de “Quando me descobri negra”: “Talvez por isso aceitasse o fim da conversa”.
Nos períodos estruturados com o modo subjuntivo, observa-se também o uso do tempo futuro do pretérito do modo indicativo.
No Capítulo 4, você estudou o modo indicativo que expressa certeza sobre o que se diz, em relação ao presente, ao passado ou a um futuro.
O futuro do pretérito do indicativo expressa ações que poderiam ter acontecido em um passado.
Por exemplo: Eu ganharia o jogo, se não tivesse machucado o pé.
3. b) Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes reconheçam que a tecnologia, para além de seus fatores positivos, também desvela a necessidade de atenção ao equilíbrio entre trabalho, estudo e lazer, sobretudo com o avanço atual em um mundo hiperconectado, que apresenta ferramentas ainda mais eficientes do que à época em que a tira foi criada, o que fica perceptível pelas citações feitas pelo pai de Calvin no segundo quadrinho.
3. Leia a história em quadrinhos (HQ) de Calvin, a seguir, e responda às questões no caderno.
3. a) Ele reflete sobre como a tecnologia, que inicialmente criou nos usuários expectativas de facilitação da vida, gerou com sua eficiência uma necessidade maior de produtividade desses usuários no tempo que restou, o que tirou deles tempo de lazer.



a) Que reflexão o pai de Calvin faz na tira?
b) Você concorda com o ponto de vista dele?
c) Que acontecimento constrói o efeito de humor da tira?
WATTERSON, Bill. O mundo é mágico – as aventuras de Calvin e Haroldo, por Bill Watterson. São Paulo: Conrad, 2010. p. 87.
d) No primeiro quadrinho, a fala é construída com uma estrutura no subjuntivo. Identifique-o e explique seu efeito de sentido para a reflexão que é feita nele.
e) No último quadrinho, há também uma estrutura construída com subjuntivo, porém, um dos verbos não apresenta conjugação adequada. Identifique-o e explique por que há esse desvio na conjugação. Registre a forma conjugada adequada.
A construção oracional do pretérito imperfeito do subjuntivo aciona uma ação de futuro que implica o uso do futuro do pretérito. Observe a lógica de construção desse tempo verbal no esquema a seguir.
Se ele conseguisse diminuir as horas de trabalho, teria mais lazer.
Enquanto o pai de Calvin faz reflexões sobre o tempo e a necessidade de parar um pouco para o lazer, Calvin fica indignado com o tempo de cozimento de um alimento no micro-ondas, considerando seis minutos como excessivos e afirmando que as pessoas não têm esse tempo 3. d) “Se [ele] conseguisse o que queria”. O efeito de sentido é a construção de uma situação hipotética no contexto de passado que o pai de Calvin está apresentando em sua reflexão. 3. e) “Se quiséssemos mais lazer, devíamos inventar máquinas menos eficientes”. A forma verbal com desvio é devíamos, pois está conjugado o pretérito imperfeito, quando o adequado seria estar conjugado no futuro do pretérito, assumindo assim a forma deveríamos. Esse desvio na conjugação pode ser explicado pela proximidade semântica (de significados) entre os passados – pretérito imperfeito e futuro do pretérito: como a ação hipotética aconteceu no passado, é possível que o falante busque a complementação dessa ação também em um tempo passado (pretérito imperfeito) e não na construção de futuro hipotético desse passado (futuro do pretérito).
Ação não aconteceu de fato. É uma hipótese suposta para o passado (pretérito).
Se a ação tivesse ocorrido, haveria outro futuro, por isso o tempo acionado é o futuro do pretérito.
O emprego do subjuntivo em um texto pode expressar sentidos diversos relacionados à incerteza, dúvida ou projeção de realidade que esse modo verbal circunscreve.
4. Releia este trecho do relato extraído do livro A viagem inútil, de Camila Sosa Villada.
Algumas vezes compartilho a mim mesma, compartilho o que escrevo, mas isso não significa que eu me abra para o mundo, e sim que trago visitantes para minha intimidade. Prefiro que o leitor entre em mim a ter de buscá-lo.

a) Copie, no caderno, a afirmação correta sobre os sentidos do emprego do modo subjuntivo no trecho.
A afirmação correta é a II.
I. A estrutura do presente do subjuntivo “que eu me abra” expressa uma possibilidade que a autora nega. Já a estrutura do futuro do subjuntivo “que o leitor entre” expressa um desejo da autora em relação ao leitor, que se projeta no futuro.
II. A estrutura do presente do subjuntivo “que eu me abra” expressa uma possibilidade que a autora nega. A estrutura “que o leitor entre”, também no presente do subjuntivo, expressa um desejo da autora em relação ao leitor, que se projeta no presente em que ela enuncia.
III. A estrutura do presente do subjuntivo “que eu me abra” expressa uma possibilidade que a autora nega. A estrutura “que o leitor entre”, também no presente do subjuntivo, expressa um desejo da autora em relação ao leitor, que se projeta no futuro.
b) Em relação ao projeto de dizer da autora, que sentidos modalizadores ela organiza no texto? Copie, no caderno, a afirmação correta.
A afirmação correta é a I.
I. A estrutura do presente do subjuntivo “que eu me abra” expressa uma modalização lógica e asseverativa, porque nega uma hipótese, assegurando que ela não ocorra de certa forma, mas de outra. Já a estrutura “que o leitor entre” é uma modalização afetiva, porque exprime o desejo da autora e, portanto, tem caráter subjetivo.
II. A estrutura do presente do subjuntivo “que eu me abra” expressa uma modalização lógica quase asseverativa, porque se insere no campo da possibilidade. Já a estrutura “que o leitor entre” é uma modalização afetiva, porque exprime o desejo da autora e, portanto, tem caráter subjetivo.
III. A estrutura do presente do subjuntivo “que eu me abra” expressa uma modalização lógica asseverativa, porque nega uma hipótese, assegurando que ela não ocorra de certa forma, mas de outra. A estrutura “que o leitor entre” é uma modalização lógica, porém ela é quase asseverativa, porque exprime uma preferência da autora, mas ainda no campo da possibilidade, e não da certeza.
5. Agora, releia este trecho do poema “Eu gostaria de escrever sem estar com raiva” e identifique o emprego do subjuntivo no trecho e o efeito de sentido modalizador no contexto do trecho.
Eu gostaria de escrever um mísero conto, onde pudesse sussurrar nos ouvidos nossos próprios
O subjuntivo é pudesse e expressa um desejo da enunciadora, uma modalização afetiva.
Entre as vozes verbais – ativa, passiva e reflexiva – a voz passiva se destaca como um elemento de modalização, pois expressa sentidos bastante estratégicos em relação ao projeto de dizer do enunciador. Para compreender essa expressividade, revise a estruturação dessa voz verbal.
6. Leia este trecho de um texto didático produzido para um curso de formação sobre as juventudes direcionado a profissionais do Ensino de Jovens e Adultos (EJA).

As manifestações culturais são locais de confluência de ideias e participação política da juventude. Entre estas, destaca-se o Rap, uma das manifestações artísticas que compõem o movimento Hip Hop, como forma de participação política contemporânea, de grande influência entre os jovens negros moradores das periferias urbanas. Tal movimento é visto como uma forma de organização política, social e cultural da juventude negra e pobre. Ele é composto por quatro elementos: o break, o grafite, um DJ (disc-jóquei) e um MC (mestre de cerimônias). Juntos, o DJ e o MC são responsáveis pelo Rap (Rhythm and Poetry ou Ritmo e Poesia), o estilo musical do movimento Hip Hop, cujas letras buscam denunciar problemas sociais como a violência, a exclusão social e o racismo. O Hip Hop pode ser considerado como um movimento de resistência cultural negra.
OLIVEIRA, Edgard Leite de; MARTINS, Francisco; OLIVEIRA, Igor. Juventude negra: formas de participação e luta contra o racismo. [S l.]: Juviva, c2014. Disponível em: https://observatoriodajuventude.ufmg.br/juviva-conteudo/05-04.html. Acesso em: 9 set. 2024.
a) Q ual é a importância do movimento hip-hop para as culturas periféricas, segundo o texto? Justifique.
O movimento hip-hop é uma forma de participação política de jovens da periferia, porque denuncia problemas sociais vividos por esse público, que alcança outras esferas por meio dessa arte.
b) No trecho, a voz passiva se manifesta de forma sintética na forma verbal destaca-se. Quem é responsável pela ação do verbo? Que efeito de sentido essa voz verbal denota no texto?
O emprego da voz passiva sintética no trecho o impessoaliza, pois não há um sujeito a quem se atribui a ação de destacar.
c) As estruturas é visto e é composto também são expressões da voz passiva – nesses casos, da voz passiva analítica. Essas estruturas se referem a termos específicos. Identifique-os.
Ambas as estruturas se referem à expressão movimento Hip Hop
d) No trecho “O Hip Hop pode ser considerado como um movimento de resistência cultural negra”, de que modo o uso da voz passiva tem efeito modalizador?
Voz passiva sintética (pronominal) e analítica
A estruturação de uma oração na voz passiva pode ocorrer de forma sintética ou analítica.
Na forma sintética , há o emprego de um pronome junto ao verbo, por isso ela também é chamada de voz passiva pronominal. Expressa impessoalidade , porque há omissão do sujeito.
Por exemplo: Considera-se o hip-hop um movimento de resistência cultural negra.
Na forma analítica , há o emprego do verbo auxiliar ser e de um verbo no particípio passado. Pode ser mais pessoal, deixando a ação do verbo bastante marcada pelo agente que a causou, ou pode ser também uma expressão de impessoalidade, a depender da estruturação.
Por exemplo: O grupo de artistas negros foi escolhido para a próxima temporada. (Não há clareza sobre quem escolheu.)
O grupo de artistas negros foi considerado pelos jurados como o melhor do concurso. (Há evidência de quem considerou.)
6. d) O emprego da voz passiva analítica com o uso da locução pode ser e do particípio considerado introduz um sentido modalizador quase asseverativo, uma vez que se apresenta como uma interpretação plausível, mas não uma certeza absoluta. Em vez de afirmar categoricamente que o hip-hop é um movimento de resistência cultural negra, a expressão sugere que isso é uma perspectiva válida ou uma avaliação que pode ser feita, mas admite espaço para outras interpretações.

7. Agora, releia este trecho do poema “Nunc obdurat et tunc curat” e copie, no caderno, a(s) afirmação(ões) correta(s).
roubaram de mim de você desse lápis desse teclado a escrita da poesia qualquer
enquanto o cérebro encurta o circuito a medicação tropeça enquanto sou como todas as outras poetas
fui roubada
8. a) O humor consiste na confusão feita pelo fantasma em relação aos potes que continham pó para fazer o café. Ele deve ter preparado o café com cafeína, o que acabou deixando Vitu sem sono na madrugada.
8. c) Não, o autor utiliza as formas verbais correspondentes ao pretérito imperfeito do subjuntivo, mas com o sentido de pretérito perfeito do indicativo.
I. A construção fui roubada , na voz passiva sintética, expressa pessoalidade, pois evidencia o responsável pela ação, implícito na forma verbal fui (eu).
II. Roubaram é uma forma verbal na voz passiva analítica e omite o sujeito como estratégia de culpabilização de diversos contextos e pessoas, não apenas uma.
III. A construção fui roubada, na voz passiva analítica, omite o sujeito do roubo, com o intuito de colocar foco no ato do roubo em si, e não em quem o praticou.
IV. No contexto do poema, a construção fui roubada , na voz passiva analítica, embora omita o sujeito, atribui a um pensamento racista coletivo o ato do roubo.
Estão corretas as afirmações III e IV.
A estrutura morfológica dos verbos no pretérito imperfeito do subjuntivo tem um formato bastante característico, e as desinências geralmente terminam em -asse, -esse, -isse e -osse. Mas é preciso ter atenção ao contexto de emprego desse tempo verbal, para identificar sua expressividade e a relação com o modo de falar de diferentes regiões do Brasil.
8. Leia, a seguir, a tira de um quadrinista cearense e responda às questões.

a) E xplique o efeito de humor da tira.
b) Identifique os verbos do primeiro e do segundo quadrinhos, além de seu tempo e modo.
c) A s formas verbais fizesse e pedisse correspondem ao modo e tempo em que são empregadas na tira?
d) Por que o autor da tira optou por essa construção verbal no texto?
8. b) fizesse[s] fizeste – pretérito perfeito do indicativo. é – presente do indicativo. pedisse[s] pediste – pretérito perfeito do indicativo. pede – presente do indicativo. faço – presente do indicativo.
DIAS, Antonio. [ Vitu, Fantasma e o café]. [S l.], 23 jul. 2023. Instagram: abaixadaegua. Disponível em: www.instagram.com/p/ CvDe2ZMPk9w/?img_index=5. Acesso em: 9 set. 2024.
8. d) Porque ela representa o modo de falar da região do autor e das personagens da tira. Como a tira é um gênero que favorece a representação de contextos orais, ele optou por escrever do modo como ouve a fala em sua região. Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor.
O fenômeno de troca do pretérito perfeito do indicativo pelo pretérito imperfeito do subjuntivo, como usado na tirinha, tem uma característica de proximidade fonológica entre as formas conjugadas desses verbos. Pronuncie em voz alta estes sintagmas.
Tu fizeste → tu fizesse
Para pronunciar /st/, é preciso acionar dois pontos de articulação na boca. Assim, por um princípio de economia linguística, faz-se assimilação com o fonema mais próximo – nesse caso, o /s/; daí a escrita se assemelha à do modo subjuntivo. Essa troca é uma marca muito característica de falares de várias regiões do Brasil e exclusiva da oralidade.

Modo imperativo
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor
A abordagem sobre o modo imperativo encerra os estudos sobre os modos verbais e seus efeitos de sentido.
9. Releia, a seguir, o título e o subtítulo do texto jornalístico que explica o termo colorismo.
Saiba mais sobre o termo colorismo, também conhecido por pigmentocracia, e suas consequências
a) O título traz em si uma informação importante sobre o termo. Identifique-a e explique sua importância.
A informação é de que o colorismo é uma forma de racismo. A importância de fazer a afirmação já no título é antecipar o viés de análise do texto ao leitor.
b) E xplique o sentido da expressão “Saiba mais” empregada no subtítulo, no contexto das informações que ele veicula.
Trata-se de um convite de acesso com um apelo persuasivo, que é conhecer informações complementares sobre o termo, bem como suas consequências.
Modo imperativo
O modo verbal imperativo é utilizado para expressar súplicas , ordens , pedidos , conselhos etc. Sendo assim, essa é uma forma verbal que se dirige diretamente ao interlocutor, induzindo-o a realizar ou a abster-se de realizar uma ação. O imperativo se divide em duas formas: afirmativa e negativa . Observe o exemplo de sua conjugação com o verbo amar
Ama (tu)
Ame (você)
Amemos (nós)
Amai (vos)
Amem (vocês
Não ames (tu)
Não ame (você)
Não amemos (nós)
Não ameis (vos)
Não amem (vocês)
O modo imperativo é comumente usado para dar conselhos e fazer recomendações, como apresentado anteriormente. Porém, é possível utilizar outras construções linguísticas, de maneira modalizada, com as mesmas intenções comunicativas do imperativo, como aconselhar, recomendar e dar ordem.
10. O trabalho digno é um direito humano e perpassa pelo cuidado com a saúde mental dos empregados. Leia com atenção as dicas do Núcleo Brasileiro de Estágios (NUBE), sobre equilíbrio mental, publicadas no blogue da instituição.
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor

CIDADANIA

10. b) As formas verbais são tenha, seja e aprenda Considerando que o objetivo desse material é oferecer caminhos e mostrar o que deve ser feito para uma relação saudável com o trabalho, o uso do imperativo marca os conselhos e mostra o que deveria ser realizado.
10. c) Por meio do infinitivo e da descrição do que precisa ser feito, o trecho consegue reforçar a dica e detalhar o que precisa ser realizado mesmo sem o uso do imperativo. Nesse uso, fica evidente outras formas de aconselhar, a depender do contexto e do uso.
Fonte: BARRETO, Rodrigo. A saúde mental como prioridade nas corporações. Nube, São Paulo, 13 jan. 2022. Disponível em: www.nube. com.br/blog/2022/01/13/a -saude -mental-como -prioridade -nas-corporacoes. Acesso em: 29 ago. 2024.
a) Essas são dicas voltadas para os estagiários, pessoas que estão começando sua carreira no mercado de trabalho. Por meio delas, que tipo de relação profissional se almeja conseguir? Justifique sua resposta.
b) D o ponto de vista linguístico, há três formas verbais no modo imperativo. Transcreva-as no caderno e explique seu uso nesse contexto.
c) Releia a terceira dica.
10. a) As dicas têm o objetivo de estimular um convívio saudável com o trabalho. Assim, o colaborador de qualquer espaço de trabalho precisa ter limites éticos, trabalhar em busca de objetivos e metas e superar os obstáculos do cotidiano.
3. Ter objetivos e metas definidas nos ajuda a tolerar o necessário para evoluir.
• Diferentemente das outras dicas, o imperativo não é usado na construção da recomendação. Como a dica é construída?
d) De acordo com seus conhecimentos, além de dar conselho, o infinitivo pode ser usado para dar ordens? Se sim, justifique sua resposta com exemplos.
Espera-se que o estudante reconheça que o infinitivo pode ser usado para dar ordens. Exemplos: placas com mensagens como: “Fazer silêncio.”, “Não pisar.” e “Não usar flash.”

1. Leia a tira a seguir.

VERÍSSIMO, Luis Fernando. As cobras: antologia definitiva. Rio de Janeiro: Objetiva, 2010. p. 83.
a) Em que modo e tempo está o verbo do primeiro quadrinho?
Pretérito imperfeito do modo subjuntivo.
b) Em que modo e tempo está a locução teria votado no segundo quadrinho?
Futuro do pretérito do modo indicativo.
c) A ação realmente aconteceu? Como você explica o efeito de sentido do uso do tempo no segundo quadrinho?
2. Leia o meme.
2. a) Os textos escritos são mensagens enviadas por um interlocutor, e as figurinhas, por outro, com quem o primeiro tem o propósito de interagir. As figurinhas enviadas interpretam a mensagem do primeiro interlocutor, e, quando ele intensifica a seriedade, a resposta que recebe é o mesmo gatinho enviado anteriormente, porém de terno, como se a roupa ampliasse também a seriedade do gato.
2. b) Informar ao interlocutor de que ele deve levar o assunto a sério.
Não aconteceu, pois é apenas a consequência de uma hipótese construída pelo subjuntivo do primeiro quadrinho. O efeito de sentido desse tempo se dá pelo fato de que a ação não aconteceu, mas está em um passado que só seria possível se a hipótese do primeiro quadrinho se cumprisse.

2. c) Ele usa o presente do subjuntivo, leve, acompanhado da expressão “a sério”. Isso atribui um sentido afetivo ao pedido, de modo que a possibilidade característica do subjuntivo é relacionada à gravidade do assunto, conferindo mais importância ao pedido.
2. d) O humor está na crença de um dos interlocutores de que a imagem de um gato de terno – uma roupa mais formal – comunicasse também a seriedade com que ele estava recebendo a mensagem.
EU preciso que você leve a sério. [S l.], iFunny, 25 fev. 2021. Disponível em: https://br.ifunny.co/picture/eu -preciso-que-voce-leve-a-serio-p-p-m -kTZ0P3BP8. Acesso em: 9 set. 2024. REPRODUÇÃO/IFUNNY
a) De que modo os textos verbais e não verbais se relacionam nessa mensagem instantânea?
b) O enunciador da mensagem escrita tem um projeto de dizer bastante evidente. Qual é?
c) Para efetivar esse projeto, o enunciador usa um determinado modo e tempo verbal. Identifique-o e explique o sentido que o seu uso produz.
d) Em que consiste o efeito de humor do meme?
3. a) Ao repassar a ordem superior de folga ao Sargento Tainha, o Recruta Zero expressa felicidade por meio de um sorriso, o qual o sargento pede que ele reprima, com a ordem de apagá-lo (sentido figurado). O recruta então o apaga literalmente (sentido literal), transferindo-o para um papel, o qual o sargento ordena ser descartado. O efeito de humor está nessa compreensão entre o sentido literal e o sentido figurado na representação do verbo apagar.
3. Leia a tira a seguir, que mostra um diálogo entre as personagens Recruta Zero e seu superior, o Sargento Tainha.


3. b) Mandou você me dar o dia de folga – verbo mandar seguido da ação da ordem, no infinitivo. Apague, amasse e jogue – formas verbais no modo imperativo.
WALKER, Mort. [Dia de folga]. In: WALKER, Mort. O livro de ouro do Recruta
Zero - quadrinhos clássicos. Rio de Janeiro: Ediouro, 2018. p. 111.
a) Como se constrói o efeito de humor da tirinha?
b) Há nos quadrinhos diversas ordens. Identifique como elas são expressas linguisticamente.
c) Os efeitos de sentido dessas ordens são diversos em relação aos enunciadores delas? Justifique sua resposta, tomando por base a construção linguística das ordens.
4. Leia, a seguir, uma campanha do Governo do Estado do Espírito Santo.
REPRODUÇÃO/GOVERNO DO ESPÍRITO SANTO

Fonte: FERREIRA, Camila. 18 de maio: Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Vitória: Governo ES, 18 maio 2021. Disponível em: www.es.gov.br/Noticia/18-de-maio-dia -nacional-de-combate-ao-abuso-e-exploracao-sexual-de-criancas-e-adolescentes. Acesso em: 3 out. 2024.
a) Qual é o objetivo da campanha e em que contexto ela foi publicada?
4. a) O objetivo é conscientizar as pessoas sobre a importância de denunciar abusos e exploração sexual de crianças e adolescentes. Ela foi publicada no contexto do Dia Nacional do Enfrentamento ao abuso sexual, 18 de maio.
4. b) O slogan é “faça bonito” e o sentido expresso é figurado, com base na ideia da expressão “fazer bonito”, que é “fazer o certo, direito”. O uso do imperativo se relaciona à interlocução, pois é um convite para que eles ajam de modo correto.
4. c) A frase é “Proteja nossas crianças e adolescentes” e o sentido expresso é complementar ao slogan porque o convite a agir corretamente envolve protegê-los perante a denúncia de abusos e exploração sexual.
b) A campanha traz um slogan. Identifique-o e explique seu sentido, considerando também o objetivo do uso do verbo no modo imperativo.
c) O slogan tem uma frase que o acompanha e o complementa. Explique-a.
3. c) Mandou você dar o dia de folga – o repasse da ordem vinda do recruta é modalizado por meio do verbo que expressa ordem acompanhado de infinitivo, deixando-a menos autoritária. Já as formas verbais no modo imperativo são usados pelo Sargento Tainha, superior do Recruta Zero, impondo, portanto, seu posicionamento autoritário diante do riso do soldado.

Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor.
1. a) O destaque acentua a diferença entre escrever sobre a vida, como uma experiência coletiva, e a própria vida, como uma experiência individual.
Nesta seção, você irá produzir um relato de experiência vivida escrito.
Gênero
Relato de experiência vivida. Comunidade escolar. Interlocutores
Propósito/finalidade
Relatar um acontecimento marcante da própria vida.
Livro impresso e digital de relatos de experiência vivida da turma. Publicação e circulação
1. b) A finalidade é, por meio do relato das próprias vivências, revelar uma verdade mais geral. Se possível, resgate as discussões propostas na seção Estudo do Gênero Textual sobre a identificação dos estudantes/leitores com os relatos lidos. Explique, então, que a “verdade mais geral” proposta por Ernaux é justamente essa identificação de outros com uma vivência pessoal.
1. Para dar início à reflexão acerca da produção do relato de experiência vivida, leia, a seguir, um trecho do livro A escrita como faca e outros textos, da escritora francesa Annie Ernaux (1940-).
Escrever a vida, não a minha vida. Qual é a diferença?, podem perguntar. A diferença é considerar o que aconteceu comigo, o que acontece comigo, não algo único, incidentalmente vergonhoso ou indizível, e sim um material a ser observado a fim de entender, de revelar uma verdade mais geral. Desse ponto de vista, não existe o que é chamado de ‘íntimo’, há apenas coisas que são vividas de maneira singular […].
ERNAUX, Annie. A escrita como faca e outros textos Tradução: Mariana Delfini. São Paulo: Fósforo, 2023. p. 171.
a) Leia novamente a primeira frase do trecho, observando as palavras grafadas em itálico. Que diferença elas destacam?
b) De acordo com o trecho, qual é a finalidade de observar os acontecimentos da própria vida e relatá-los?
c) Você consegue pensar em um acontecimento da sua vida que pode ser considerado relevante para um relato capaz de gerar a identificação do leitor? Qual é esse acontecimento? Compartilhe-o oralmente com a turma.
Respostas pessoais. A atividade tem o objetivo de incentivar os estudantes a pensar em um acontecimento que possa servir como material para a produção do seu relato de experiência vivida.
Planejar e elaborar
Annie Ernaux nasceu em Lillebonne, na França, país no qual seus livros são considerados clássicos modernos. Em 2022, recebeu o Prêmio Nobel de Literatura pelo conjunto de sua obra.

■ Escritora Annie Ernaux é fotografada na França, 2008.
1. É comum que um relato de experiência vivida apresente mais de uma experiência, mas seja focalizado em determinado momento da vida ou em um acontecimento marcante. Relembre a sua resposta para o último item da etapa anterior e selecione o acontecimento que ganhará destaque em seu relato de experiência vivida.

2. Após selecionar a vivência principal que será contada, procure pensar sobre as reflexões que podem ser suscitadas com base no seu relato. A exemplo do texto de Bianca Santana – lido na seção Estudo do Gênero Textual, que apresenta uma reflexão sobre autorreconhecimento, identidade e negritude –, procure pensar a qual reflexão você pretende levar o leitor com o seu relato, compartilhando com ele um pensamento mais geral com base em uma vivência particular.
3. Faça uma lista dos acontecimentos que serão relatados em seu texto. Coloque-os na ordem que irão aparecer e avalie se essa organização promove um texto coeso e confere o devido destaque à experiência principal.
4. Faça uma lista dos lugares, das pessoas e dos marcos temporais que serão apresentados, tomando a devida atenção para que essas informações ajudem a desenvolver a narrativa e facilitem a compreensão do leitor.
5. Escreva o texto na primeira pessoa do singular, utilizando tanto as formas verbais quanto os pronomes correspondentes. A perspectiva do relato deve ser a de um enunciador que narra a própria história.
6. Verifique a possibilidade de utilizar recursos expressivos que auxiliem na criação de novos sentidos para o acontecimento relatado. O uso de figuras de linguagem é sempre uma opção indicada.
7. Antes de escrever a primeira versão do relato de experiência vivida, organize uma lista com o conteúdo de cada parágrafo, ordenando os momentos do texto nos quais os acontecimentos serão narrados e aqueles nos quais as reflexões serão apresentadas. Aproveite essa atividade preparatória para refletir sobre como deseja iniciar e finalizar o seu relato. Tome essas decisões pensando em promover maior identificação no leitor.
1. Leia as perguntas a seguir e utilize-as como roteiro para avaliação e eventual reescrita do seu relato de experiência vivida.
• O leitor consegue compreender o acontecimento principal relatado?
• O acontecimento relatado permite um encaminhamento reflexivo para a identificação do leitor?
• O relato apresenta informações coerentes a respeito de lugares, pessoas e marcos temporais?
• A marca de um enunciador que narra a própria história está presente no uso das formas verbais e dos pronomes?
• A ordem de acontecimentos e a inserção de reflexões estão bem organizadas?
2. Após verificar esses itens, faça as alterações necessárias no relato.
Os relatos produzidos pela turma deverão ser organizados em formato de livro impresso ou digital. O importante é que as vivências contadas alcancem os leitores desejados: a comunidade escolar. O livro impresso pode ser disponibilizado na biblioteca da escola; enquanto o livro digital, nas redes sociais da turma ou da escola. O livro digital pode ser salvo em formato PDF ou diagramado com a ajuda de softwares de edição e publicação de textos. Solicitem a ajuda do professor para a organização e publicação da obra.
Releia atentamente seu texto para identificar se seu projeto de dizer condiz com as escolhas verbais feitas, se necessário, retome o conteúdo apresentado na seção Estudo da Língua deste capítulo. Observe as modalizações desejadas – as expressões de certeza e de dúvida, as omissões de sujeito, entre outros recursos –, de forma consciente e intencional, pensando nas reações que você deseja despertar no leitor.

Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor.
Neste capítulo, os estudos da seção Estudo Literário se pautaram na interpretação de poemas com enfoque nas representações femininas da negritude, buscando sua identidade e seu lugar na poesia e no mundo. Na seção Estudo do Gênero Textual, o enfoque foi no campo da vida pessoal, com a análise e compreensão de um relato de experiência vivida e das formas de representar esse relato na organização da escrita. A seção Estudo da Língua, por sua vez, possibilitou reflexões sobre essa organização textual de modo intencional e sobre os recursos linguísticos que compõem a modalização discursiva, com enfoque para os verbos no modo subjuntivo e imperativo. Agora, você deverá sintetizar essas aprendizagens. Para tanto, procure responder, com suas palavras, às questões a seguir. Se necessário, releia alguns dos conceitos para que seja possível elaborar sua resposta.
1. Trata-se do diálogo entre textos ou da referência a elementos externos, como outras produções artísticas, fatos históricos etc. Na literatura, essa referência pode aparecer de forma explícita ou implícita.
1. O que é intertextualidade e como ela pode aparecer em um texto literário?
2. Qual é a característica presente no slam que não pode ser reproduzida em gêneros literários escritos?
O uso performático do corpo e da voz na construção dos poemas.
3. Cite duas características linguísticas presentes no relato de experiência vivida.
Presença de marcadores temporais e modalização.
4. Indique um exemplo de suporte textual escrito e um de suporte textual oral em que o relato de experiência vivida pode aparecer.
Livro e áudio de aplicativos de compartilhamento de mensagens.
5. Explique o fenômeno da modalização enunciativa e sua importância para a escrita e para a leitura de textos.
6. Como os verbos no modo subjuntivo contribuem para a modalização discursiva?
O modo subjuntivo expressa hipótese, desejo ou dúvida, que são modalizações deônticas dos enunciados e, portanto, contribuem para a construção de julgamentos de valor e posicionamentos.
Além da compreensão do conteúdo, é importante refletir sobre seu desempenho e sua aprendizagem ao longo do capítulo. Para isso, no caderno, reproduza o quadro a seguir e responda às questões. Em seguida, converse com os colegas e o professor sobre formas de aprimoramento de sua aprendizagem e anote nas observações.
Ao longo do estudo do capítulo, percebo que…
… busquei refletir sobre as questões propostas de leitura, interpretação e análise com empenho.
… realizei as propostas de pesquisa, buscando reconhecer fontes específicas e seguras sobre o assunto.
… atuei ativamente nas atividades em grupo, assumindo responsabilidades e propondo soluções para situações desafiadoras.
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor.
Fui proficiente



Preciso aprimorar



Observações



5. A modalização é um fenômeno em que o produtor do texto tem como objetivo representar suas intencionalidades em relação ao interlocutor por meio de recursos linguísticos, como apreciar um texto, conferir ironia a ele, expressar desejo e obrigação. Por parte do interlocutor, ao ler o texto, esses recursos linguísticos despertam reações que implicam na interpretação textual.
Resposta: alternativa c .
A fonte do texto mostra que ele foi transcrito de um episódio, provavelmente de podcast. Ainda que os estudantes não tivessem essa informação, o texto é informativo, e as marcas de oralidade podem fazer parte dele, a depender de seu contexto de produção e publicação.
Neste capítulo, o enfoque de análise de questões de provas de ingresso está voltado para o estudo do gênero textual. Leia com atenção as dicas de interpretação do formato da questão e, em seguida, use as informações apresentadas para respondê-la.
Leia o texto para responder à questão:
Os povos africanos que foram trazidos pro Brasil trouxeram consigo suas tecnologias. E isso tá marcado já nas chegadas dos primeiros, lá no século XVI: eram povos que vinham de sociedades que já desenvolviam a pecuária, por exemplo, ou então sistemas agrícolas complexos. Nos engenhos, muitos africanos chegavam e já eram colocados como mestres-de-açúcar, que era a principal função na parte do beneficiamento do açúcar.

No ciclo do ouro, os exploradores eram basicamente catadores, encontrando aqui e ali as pepitas. Mas uma ferramenta trazida pelos africanos mudou esse jogo: a bateia, que servia pra tirar o ouro vindo no curso da água. Porque era uma atividade que eles já desempenhavam no continente africano, e que acabaram trazendo pra cá.
Tem um alemão, o Barão de Eschwege, ele fundou a primeira siderúrgica do Brasil, em 1812. E quem trabalhava, claro, eram os escravizados. E o Barão se apropriou de um instrumento trazido por esses africanos: o cadinho, que é um tipo de recipiente com formato de pote que é usado pra fundir metais. O alemão fez lá uma pequena adaptação no cadinho e isso potencializou a capacidade de produção dos fornos. Foi uma revolução tecnológica na época. Hoje, tem um monte de livro e de faculdade de Engenharia que homenageia o Barão. Dos africanos que ensinaram isso a ele, não se sabe nem o nome.
Projeto Querino, Transcrição do episódio 05: Os Piores Patrões. <https://tinyurl.com/yacpau7w> Acesso em: 28.10.2022. Adaptado.
O texto apresentado, levando em conta seu canal de divulgação e seu gênero, caracteriza-se pelo uso de
a) períodos longos, formados por orações subordinadas, características do editorial de empresas jornalísticas.
b) termos técnicos típicos da linguagem radiofônica, uma vez que se trata de uma notícia sobre achados arqueológicos.
c) vocabulário acessível, com algumas repetições típicas de oralidade, por se tratar de um texto informativo falado, como, por exemplo, um podcast.
d) vocabulário infantil, marcado pelas repetições, pelos diminutivos e pelos termos de cunho afetivo, porque é um relato pessoal.
e) linguagem rebuscada, com predomínio de figuras de linguagem e inversões sintáticas, pois se trata de uma crônica literária.
A questão apresenta um texto de apoio que contém muitas marcas de oralidade e até certo diálogo com o leitor.
O paratexto apresenta a fonte do texto, a que sempre se deve dar atenção, pois pode trazer informações importantes para a interpretação do gênero, por se tratar de seu contexto de publicação.
O enunciado menciona a necessidade de considerar o canal de divulgação e o gênero, o que direciona à resposta esperada. O canal de divulgação está no paratexto.
No entanto, é preciso ter atenção não apenas às marcas de oralidade do texto mas também ao conteúdo que o compõe e às suas características estruturais, de modo a não concluir precipitadamente o gênero textual a que pertence. Nesse caso, saber analisar um relato pessoal evita que pelo menos uma alternativa errada seja assinalada, aumentando a probabilidade de acerto da questão.

Resposta pessoal. É esperado que os estudantes associem as produções de Conceição Evaristo e dos Racionais MC’s ao contexto da vivência periférica.
1. Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor.
1. A técnica que Del Nunes (1998-) emprega no seu trabalho é a da colagem digital, ou seja, ele utiliza o recorte e a colagem de fotografias, texturas, tons, ilustrações e cores para compor a obra. De que maneira é possível perceber isso em O Cria?
2. Leia, a seguir, o texto de Del Nunes que acompanha a publicação de sua obra em uma rede social.
2. Resposta pessoal. Comente com os estudantes como as diversas manifestações artísticas podem se tornar aliadas na reconstrução da narrativa histórica de grupos marginalizados e invisibilizados.
A representação do Mestiço, por Portinari, pode ser vista como uma tentativa de personificar positivamente uma determinada noção de identidade do brasileiro. Na minha versão moderna, o Cria personifica a identidade do jovem brasileiro das periferias do Brasil.
NUNES, Del. [O Cria, 2022]. [São Paulo], 15 jul. 2022. Instagram: uendelns. Disponível em: https://www.instagram.com/p/CgCSOKegX4J/?img_index=1. Acesso em: 5 set. 2024.
• Em sua opinião, o artista alcança esse objetivo na obra?
3. Em O Cria , o personagem segura duas obras literárias, uma de autoria de Conceição Evaristo (1946-) e a outra do grupo Racionais MC’s, que você vai estudar neste capítulo. Pensando nisso e considerando o contexto da imagem, quais assuntos você acredita que podem ser explorados no livro Olhos d’água, de Conceição Evaristo, e no livro Sobrevivendo no inferno, dos Racionais MC’s?
apresenta uma oportunidade de investigar o conhecimento
acerca do gênero discurso, uma vez que o gênero textual estudado no capítulo é o discurso de posse.
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor.
4. As diferentes manifestações artísticas tornaram-se um elemento importante na construção de uma nova narrativa histórica de grupos marginalizados e invisibilizados. Os discursos de artistas pertencentes a esses grupos em premiações também têm impulsionado temáticas importantes. Você se lembra de ter assistido a algum discurso desses pela televisão ou pela internet?
5. A imagem que abre este capítulo é uma releitura do quadro Mestiço (1934), de Candido Portinari (1903-1962), um dos principais nomes do Modernismo brasileiro. Ela enfatiza a construção da identidade dos sujeitos periféricos. Extrapolando esse conceito para a expressão linguística desses sujeitos, de que modo a língua atua no processo de construção da identidade de seus falantes?
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
• C ampo artístico-literário
• C ampo da vida pública
Tema Contemporâneo
Transversal
• Multiculturalismo: Educação para a valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais brasileiras
Avance até a seção Oficina de Projetos deste volume e finalize os trabalhos propostos, concluindo a etapa “Vivenciar”.


■ NUNES, Del. O Cria. 2022. Colagem digital, 1 440 × 1 800 pixels, 300 dpi, formato jpg. [Coleção particular]. Uendel Nunes, ou apenas Del Nunes, é um artista contemporâneo de Salvador. Suas obras têm por objetivo ressignificar o espaço do povo negro, em especial aquele ocupado pela juventude negra e periférica. A imagem que abre este capítulo é uma releitura do quadro Mestiço (1934), de Candido Portinari, um dos principais nomes do Modernismo brasileiro. Nessa nova representação, à figura do brasileiro mestiço, trabalhador em lavoura de café, são adicionados elementos contemporâneos que atualizam a noção de marginalização vivenciada pelos descendentes de escravizados.
Procure incentivar os estudantes a conhecer a obra Mestiço, de Candido Portinari, para que eles construam maiores oportunidades de análise. Se possível, leve uma cópia da obra para a sala de aula e apresente-a para a turma.
A seguir, você lerá um trecho do conto “Os pés do dançarino”, escrito por Conceição Evaristo e publicado no livro Histórias de leves enganos e parecenças , de 2016. A obra reúne doze contos e uma novela que exploram acontecimentos incomuns.

Antes de iniciar a leitura do conto, discuta com os colegas as questões a seguir.
• Como você imagina o personagem principal do conto “Os pés do dançarino”?
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
• Considere os títulos do livro e do conto de Conceição Evaristo. De que modo você acredita que a imprevisibilidade irá permear a história?
Os pés do dançarino
jocoso: que provoca zombaria e riso.

Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes pensem em imprevisibilidades menos associadas ao universo do encantamento e mais ligadas aos imprevistos de uma vida comum.
Davenir era o que melhor possuía a arte dos pés na pequena cidade onde tinha nascido, em Dançolândia. O dom de bem dançar era uma característica comum de todos que ali tivessem nascido, ou que porventura tivessem escolhido viver na cidade. Dizendo melhor sobre Davenir, é preciso afirmar que no moço não era só a competência nos pés que fazia dele, quem ele era, mas o corpo todo. Tudo nele era habilidade para a dança. O corpo e todas as minúcias. O olho, a boca, o cabelo lindamente crespo em desalinho. A dança estava tão entranhada no corpo de Davenir, que alguns diziam que nem com amores Davenir se preocupava. Na dança, o gozo, o prazer maior. Aos sete anos, tendo observado aulas de dança em programas de televisão e participado dos bailes familiares, ele já dançava samba e tango. A família adivinhando para ele um futuro profissional, enfrentou todos os comentários jocosos e colocou o menino em aulas de balé. Não deu outra. Tudo certo. Davenir foi se tornando cada vez melhor. […] Contemplado com bolsas de estudos, inclusive para o exterior, lá se foi Davenir experimentar palcos e danças de outras culturas e exibir a sua natural versatilidade. Em uma mesma apresentação, ele era capaz de dançar uma congada mineira, um batuque afro-tietense, uma dança tcheca, como a polca, um reggae da Jamaica e do Maranhão, como também imprimia graça e verdade ao corpo, quando apresentava um rap. Era tanta a habilidade, o dom, a técnica do moço, tanta competência, tanta arte tinha Davenir, que não havia nomeação certa para ele. Bailarino, dançarino, dançador, pé de valsa, pé de ouro de todas as danças… E com tanto sucesso merecido, o moço esqueceu alguns sentimentos e ganhou outros não tão aconselháveis. Os conterrâneos de Davenir foram testemunhas do que aconteceu com ele um dia. E entre lamentos contavam o fato, e desejavam ardentemente que Davenir reencontrasse os seus perdidos pés. Vejam como o fato se deu:
Quando Davenir regressou à Dançolândia, um grande baile, na praça da cidade, foi organizado para esperá-lo. O evento era de

agrado de todos, pois o dom da dança era de pertença de quem ali havia nascido e de quem chegava para ficar. O slogan da festa era “O importante é dançar”. Não houve quem ficasse em casa; das partes mais longínquas da cidade, as pessoas saíam em direção ao local do festejo. Todos estavam saudosos do filho da terra que “dançava com alma nos pés”, aliás, slogan que os dançolandenses tinham ampliado, criando uma máxima: “só dança bem, quem a alma nos pés tem”. E depois de umas poucas horas, que pareceram infindas para o público, Davenir chegou à praça, pronto para receber as homenagens. Chegou certo de que era um tributo merecido e de que outras celebrações deveriam acontecer. Para Davenir, a cidade deveria curvar-se aos seus pés, pois tinha sido graças a sua arte que um lugarzinho como aquele tinha se tornado conhecido no mundo. E, na vaidade do momento, Davenir nem prestou atenção em três mulheres, as mais velhas da cidade, que estavam postadas nas escadas do coreto, em que ele deveria subir. Passou por elas, sem sinal de qualquer reconhecimento. Também não percebeu o abraço lançado ao vazio que elas fizeram em direção a ele. Davenir pensava só na homenagem que iria acontecer e nas fotos que seriam tiradas dele com as autoridades da cidade.
E depois de apresentações que levaram o público às lágrimas, Davenir emocionado se preparou para deixar o local. Ao descer as escadas, foi que ele reconheceu as r espeitáveis anciãs da cidade. Elas estavam ainda de braços abertos, esperando para abraçá-lo e receber os abraços dele também. Foi quando Davenir se viu menino novamente e nesse instante reconheceu que a mais velha das velhas era sua bisavó. Ela tinha sido a primeira pessoa que distinguiu nele o dom para dança. A segunda velha tinha sido aquela que um dia, com oração e unguentos, curara milagrosamente, o joelho deslocado dele. Acidente que ele sofrera, em véspera de uma grande apresentação. E a terceira, Davenir não conseguia se lembrar, de quem se tratava, embora a fisionomia não lhe fosse estranha. Mas nem assim Davenir parou para acolher o carinho das velhas tão marcantes em seu destino. E, à medida que descia as escadas e seguia o caminho, uma dor estranha foi nvadindo seus membros inferiores. Foi tomado também por um desesperado desejo de arrancar os sapatos que lhe pareciam moles, bambos e vazios de lembranças em seus pés. Susto tomou ao puxar os sapatos, quando sentiu as meias vazias. Deu pela ausência dos pés que, entretanto, doíam. Nesse mesmo instante recebeu de a lguém da casa um recado da Bisa, a mais velha das velhas. Os pés dele tinham ficado esquecidos no tempo, mas que ficasse tranquilo. Era só e le fazer o caminho de volta, para chegar novamente ao princípio de tudo.
EVARISTO, Conceição. Os pés do dançarino. In: EVARISTO, Conceição. Histórias de leves enganos e parecenças. Rio de Janeiro: Malê, 2017. p. 41-44.
Maria da Conceição Evaristo de Brito é um dos nomes mais importantes da literatura contemporânea brasileira. Graduada em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Mestre em Literatura Brasileira pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), Doutora em Literatura Comparada pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e Doutora Honoris Causa pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), a autora se dedica ao estudo e à construção de uma poética afro-brasileira. Integrante da Academia Mineira de Letras, estreou na literatura em 1990 publicando os seus poemas na série Cadernos Negros, periódico que, desde 1970, divulga textos de escritores afro-brasileiros. Seus livros s ão tema de diversos estudos acadêmicos e foram traduzidos para diversos idiomas, como inglês, francês e espanhol. Em entrevistas, Conceição Evaristo costuma enfatizar que nasceu em uma casa vazia de livros e bens materiais, porém repleta de palavras e conta ções de histórias que, hoje, permeiam a sua literatura.
■ Conceição Evaristo em fotografia de 2022.

1. a) Resposta pessoal. Espera-se que algumas características do personagem, como ser um bom dançarino, correspondam ao que foi imaginado pelos estudantes. Contudo, outras características, como a vaidade, podem não ter sido imaginadas por eles.
2. a) A descrição de Davenir sugere que ele é uma pessoa negra, uma vez que o cabelo é descrito como crespo, uma característica frequentemente associada à identidade racial negra.
2. b) A forma como o cabelo de Davenir é descrito pode ser percebida como reconhecimento e valorização de suas características raciais, pois aponta para uma identidade racial afirmativa e positiva.
2. c) As descrições físicas de Davenir enfatizam a conexão entre seu corpo e a dança. A descrição detalhada das características físicas do personagem realça a ideia de que sua habilidade para dançar está relacionada à sua identidade, reforçando a ideia de que a dança é uma extensão de quem ele é e de que sua habilidade não é apenas técnica, mas também uma expressão autêntica de identidade.

Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes utilizem a atividade para refletir sobre o modo como os preconceitos em relação aos artistas se propagam socialmente.
O narrador diz que não é possível nomear a inclinação de Davenir para a dança porque, considerando a propensão para a dança de todos que residiam em Dançolândia, suas habilidades eram quase sobre-humanas, o que faz com que os habitantes da cidade se referissem a ele como aquele que “dançava com alma nos pés”.
1. Após a leitura do conto “Os pés do dançarino”, retome as questões discutidas no boxe Primeiro olhar e responda.
a) O personagem principal do conto corresponde ao que foi imaginado por você antes da leitura? Explique.
1. b) Respostas pessoais. Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
b) A maneira como a imprevisibilidade é abordada no decorrer do conto se assemelha à hipótese que você levantou? Justifique, discutindo sua resposta com a turma.
2. Leia o trecho a seguir, retirado do conto “Os pés do dançarino”.
Tudo nele era habilidade para dança. O corpo e todas as minúcias. O olho, a boca, o cabelo lindamente crespo em desalinho.
a) O que a descrição de Davenir permite inferir sobre a sua identidade racial?
b) Qual é o efeito de sentido gerado pela utilização do adjetivo lindamente para descrever o cabelo de Davenir?
c) De que maneira as descrições das características físicas de Davenir ajudam a construir sua identidade como dançarino no conto?
3. Responda às perguntas a seguir considerando as atitudes da família de Davenir e a reação da comunidade em relação ao seu talento para a dança.
a) Qual foi a atitude da família ao perceber que Davenir tinha habilidade para a dança?
b) Para garantir que o filho pudesse desenvolver essa habilidade, a família enfrentou comentários jocosos. Levante hipóteses sobre o que motivou os habitantes de Dançolândia a terem tal atitude em relação a Davenir.
Resposta pessoal. Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
c) Reflita sobre o modo como os comentários jocosos da comunidade se relacionam a percepções e preconceitos sociais em relação à dança e à expressão artística, de modo geral, utilizando exemplos da sua vivência pessoal e do contexto em que você se insere.
4. Releia o trecho a seguir e responda ao que se pede.
Era tanta a habilidade, o dom, a técnica do moço, tanta competência, tanta arte tinha Davenir, que não havia nomeação certa para ele. Bailarino, dançarino, dançador, pé de valsa, pé de ouro de todas as danças…
a) O que leva o narrador a dizer que não havia forma de nomear nem de qualificar a inclinação de Davenir para a dança? Explique. A atitude da família foi matricular Davenir em aulas de balé.

6. a) A primeira anciã, “a mais velha das velhas”, era a bisavó de Davenir e foi quem percebeu no protagonista a habilidade para a dança. A segunda anciã, por sua vez, curou o joelho de Davenir, que estava deslocado, fazendo com que ele conseguisse participar de uma grande apresentação. Da terceira anciã, o protagonista só se lembrou da fisionomia.
b) Mesmo enfatizando as dificuldades em nomear as habilidades de Davenir, o narrador recorre à apresentação sequencial de vários termos com o objetivo de explicitar as qualidades do dançarino. Em seu ponto de vista, qual é o efeito de sentido gerado pela enumeração desses termos?
Resposta pessoal. Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
5. No decorrer da narrativa, várias expressões compostas pelo vocábulo pé(s) acompanhado de um termo com valor adjetivo são utilizadas para descrever as qualidades de dançarino de Davenir.
a) Transcreva três dessas expressões.
5. a) Resposta pessoal. As expressões arte dos pés, competência nos pés, pé de valsa e pé de ouro podem ser utilizadas na resposta.

b) Analise de que modo essas diferentes expressões contribuem para a construção da imagem de Davenir como um dançarino excepcional.
c) Ao final da narrativa, a palavra pé adquire outra simbologia. Identifique-a, considerando a sua interpretação do conto lido.
5. b) Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
6. Releia os dois últimos parágrafos do conto para responder às questões a seguir.
a) Considerando o contexto da narrativa, descreva o papel das anciãs na vida de Davenir.
b) Inicialmente, o encontro de Davenir com as anciãs altera a percepção do personagem sobre sua trajetória? Explique.
c) O que a mensagem final da bisavó de Davenir revela sobre a importância das memórias e das raízes?
d) Como a história de Davenir e a reconexão com as raízes dele podem inspirar você a refletir sobre a sua própria conexão com os seus antepassados? Considere como a valorização da ancestralidade pode influenciar a construção da identidade e das escolhas de vida.
Com base na junção dos termos escrever e vivência, Conceição Evaristo criou o conceito de escrevivência, que designa as narrativas que buscam ficcionalizar as experiências coletivas das populações socialmente minoritárias, em especial a população negra, não só inserindo-as na posição de protagonismo, mas também valorizando a construção da identidade e das visões de mundo desses sujeitos, além de resgatar as ancestralidades que influenciam e compõem essas vivências. As principais características da literatura de escrevivência são o uso de linguagem cotidiana, com forte presença de marcas de oralidade, e o entrelaçamento temporal entre passado e presente.
7. Quais aspectos presentes no conto “Os pés do dançarino” permitem associá-lo ao conceito de escrevivência?
8. Considerando o conceito de escrevivência, responda, no caderno, às questões a seguir. a) Qual é a relação entre o conceito e a organização das vozes narrativas no conto “Os pés do dançarino”? 8. a) Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor.
5. c) Ao final da narrativa, o termo pé passa a simbolizar não apenas a habilidade de Davenir, mas também a perda e a desconexão do dançarino com suas raízes e com sua identidade. Dessa forma, o vocábulo destaca a necessidade de reconciliação de Davenir com seu passado e com aqueles que desempenharam papéis importantes em sua trajetória.
6. b) Não. Inicialmente, Davenir não presta atenção nas anciãs, pois estava interessado em exibir seus talentos e receber homenagens.
6. c) A mensagem enfatiza a importância da reconexão de Davenir com suas origens e com as experiências que contribuíram para sua formação. A mensagem sugere que, para Davenir, a valorização das suas memórias e raízes é fundamental para encontrar novamente o propósito e o sentido da dança e da sua vida em geral.
6. d) Resposta pessoal. O objetivo da atividade é fazer com que os estudantes reflitam sobre a relação que eles estabelecem com seus antepassados e com a história de sua família.
7. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes reconheçam a valorização da subjetividade negra e da relação da população negra com a ancestralidade como características que permitam essa associação.
8. b) Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes percebam que o estudo da literatura baseada nas vivências de sujeitos historicamente invisibilizados, além de promover o diálogo com as diferenças, pode ser capaz de empoderá-los e incentivá-los a refletir sobre suas próprias experiências e, até mesmo, a compartilhá-las.

No conto, apenas o protagonista Davenir é explorado com profundidade. Caso os estudantes indiquem as anciãs, é possível explicar que, mesmo exercendo um papel fundamental na narrativa, sabe-se pouco sobre elas e tudo que se sabe tem como perspectiva a história de
b) E stendendo o conceito de escrevivência para o contexto de sala de aula, qual é o papel e a importância do estudo da literatura produzida por vozes outrora marginalizadas no ambiente escolar?
9. Analise o modo como os acontecimentos se organizam no conto lido. Em seguida, responda às perguntas.
a) No conto, quais personagens são exploradas com profundidade?
b) Em que espaço a narrativa acontece?
c) A história apresenta um ou mais conflitos como elemento central? Explique. A narrativa acontece na cidade de Dançolândia.
A história apresenta apenas um conflito como elemento central, que corresponde à história de como Davenir perdeu os seus pés.
Espera-se que os estudantes reconheçam que a divisão do conto entre momentos de sucesso e de crise permite que a história explore a dualidade da experiência de Davenir, demonstrando como a realização pessoal pode estar ligada a uma perda ou desconexão em relação a aspectos fundamentais da própria identidade.
O gênero conto
O conto é um gênero literário que se diferencia do romance, já estudado no Capítulo 4, por apresentar uma narrativa curta e ter estrutura concisa e poucos personagens, além de se desenvolver em torno de um único conflito.
No conto, estão presentes todos os elementos da narrativa: enredo, personagens, espaço, tempo e um narrador, que pode ou não participar da história; mas, por causa da curta extensão do gênero, espaço e tempo costumam ser mais delimitados.
Do ponto de vista estrutural, o conto se divide em:
• apresentação: introduz as características das personagens, o cenário e o enredo;
• de senvolvimento: explora os principais acontecimentos da história, desenvolvendo o enredo e explicitando o clímax, compreendido como o momento de maior tensão da narrativa;
• desfecho: apresenta uma solução para o conflito explorado no desenvolvimento. Essa solução pode ser positiva ou negativa para o protagonista, ou mesmo não existir.
10. É possível dividir o conto “Os pés do dançarino” em dois momentos.
a) Identifique esses dois momentos.
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
b) Na história narrada, de que modo essa organização contribui para a construção de uma mensagem sobre como os sujeitos desenvolvem sua identidade? Explique.
11. Releia o trecho a seguir, no qual o narrador de “Os pés do dançarino” introduz a voz dos habitantes de Dançolândia.
Os conterrâneos de Davenir foram testemunhas do que aconteceu com ele um dia. E entre lamentos contavam o fato, e desejavam ardentemente que Davenir reencontrasse os seus perdidos pés. Vejam como o fato se deu:
Agora, em duplas, observem as duas acepções da palavra fato para, em seguida, responder ao que se pede.
fato 1 (fa.to) sm . 1 Ato, feito, acontecimento, evento, circunstância: Fatos estranhos vêm acontecendo aqui […] 2 O que é real ou verdadeiro; verdade; realidade: A exploração espacial já é um fato
FATO. In: AULETE, Caldas. Dicionário escolar da língua portuguesa Organização: Paulo Geiger. Rio de Janeiro: Lexikon, 2012. p. 401.
11. a) A acepção que mais se adequa ao contexto do conto é a primeira, pois imprime ao que será narrado a ideia de um evento, acontecimento ou circunstância. A segunda acepção não é adequada, uma vez que o caráter insólito da narrativa leva a pensar que ela não corresponde ao que é real, factual, verdadeiro.
a) Qual das duas acepções melhor se adequa ao contexto do conto de Conceição Evaristo? Expliquem.
b) Considerando a segunda acepção do termo, a escolha do narrador por essa palavra para caracterizar a história que apresenta pode gerar certa expectativa no leitor. Qual é essa expectativa?
A expectativa é de que o conto terá como tema um acontecimento realista ou baseado na realidade.
c) A expectativa gerada é atendida no decorrer do conto? Justifiquem a resposta com elementos do texto.
A expectativa gerada não é atendida no decorrer do conto, pois a história traz um elemento estranho em seu desfecho: o fato de Davenir perder os pés.

No Capítulo 4, você estudou o conceito de realismo animista , elaborado pelo escritor angolano Pepetela. Esse recurso estético consiste na inserção de elementos imprevisíveis em narrativas de matriz africana, com o objetivo de incorporar crenças e valores típicos da estrutura de pensamento das culturas às quais essas histórias remetem.
A aplicação do conceito de realismo animista à obra de Conceição Evaristo foi elaborada pela professora Assunção de Maria Sousa e Silva no posfácio de Histórias de leves enganos e parecenças, obra de que faz parte o conto em análise neste capítulo. Leia, a seguir, um trecho do texto da docente.
A incursão da imprevisibilidade, isto é, do estranho nos contos e na novela parece mais se aproximar do que se concebe como realismo animista (termo cunhado pelo escritor angolano Pepetela), perspectivado em diversas narrativas africanas. Isto porque a existência da atuação de forças da natureza, da alteração dos fenômenos que modificam a ordem natural das coisas, a crença em entidades capazes de intervir na rotina dos personagens, etc. são estratégias concebidas por um modus operandi revelador da maneira de pensar, de ser e de existir de uma dada comunidade cujas origens advêm da diáspora africana.
SILVA, Assunção de Maria Sousa e. A fortuna de Conceição. In: EVARISTO, Conceição. Histórias de leves enganos e parecenças. Rio de Janeiro: Malê, 2017. p. 106.
12. Quais elementos presentes no conto “Os pés do dançarino” permitem associá-lo ao conceito de realismo animista? Justifique.

Se for possível, reproduza a música para a turma após a leitura do texto. A escuta da canção poderá auxiliar a interpretar a sua mensagem.
No conto “Os pés do dançarino”, de Conceição Evaristo, a relação entre o protagonista Davenir e a dança funciona como fio condutor da narrativa. Agora, será apresentada a letra de um rap de Rincon Sapiência (1985-), rapper e poeta paulista que explora essa relação por outra perspectiva.
12. No conto de Conceição Evaristo, a imprevisibilidade, característica do realismo animista, se dá na perda dos pés pelo protagonista, depois da falta de reconhecimento do papel da sua ancestralidade na concretização do seu sonho de ser dançarino. Assim, as forças da natureza se manifestam no sentido de alertá-lo para a sua atitude. Ao final do conto, tal fato se evidencia pela inserção da fala da sua bisavó, que aponta para a necessidade de Davenir retomar o seu passado, seu começo, para recuperar os pés.

1 (Vamo nessa!)
2 Ei, pela minha raça não tem amor
3 Lava a boca pra falar da minha cor
4 Se eles quiser provar do sabor
5 Peça benção pra bater no tambor
6 Nunca age, nunca fala
7 Que a melanina vira bengala
8 Só porque fugimos da senzala
9 Querem dizer que nóis é mó mala
[…]
10 Orgulho preto, manas e manos
11 Garfo no crespo, tamo se armando
12 De turbante ou bombeta
13 Vamo jogar, ganhar de lambreta
14 Problema deles, não se intrometa
15 Óia, a coisa tá ficando preta
16 Essa batida faz um bem, diz da onde vem
17 Corpo não para de mexer, dá até calor
18 É vitamina pra alma, melanina tem
19 E todos querem degustar desse bom sabor (2x)
20 Vamo, vamo, vamo
21 Sem corpo mole, mole, mole
22 Tamo no corre, corre, corre
23 A coisa tá preta, preta
24 (Vam’bora!)
25 Ritmo tribal no baile nóis ginga
26 Cada ancestral no tronco nóis vinga
27 Cada preto se sente Zumbi
28 E cada preta se sente a Nzinga
29 Pinga, quica, pinga, quica
[…]
30 Açúcar mascavo adocica
31 Sangue de escravo não, pulei
32 Vou um pouco mais longe, sangue de rei
33 Na onda do stereo, história prolongo
34 Não rola mistério, sou Manicongo
35 Ei, DJ, ferve mil grau
36 Arame, cabaça , pedaço de pau
37 Que nem capoeira fechou, berimbau
38 A coisa tá preta, ó que legal
39 Essa batida faz um bem, diz da onde vem
40 Corpo não para de mexer, dá até calor
41 É vitamina pra alma, melanina tem
42 E todos querem degustar desse bom sabor (2x)
43 Vamo, vamo, vamo
44 Sem corpo mole, mole, mole
45 Tamo no corre, corre, corre
46 A coisa tá preta, preta (2x)
47 Se eu te falar que a coisa tá preta
48 A coisa tá boa, pode acreditar
49 Seu preconceito vai arrumar treta
50 Sai dessa garoa que é pra não moiá
51 Essa batida faz um bem, diz da onde vem
52 Corpo não para de mexer, dá até calor
53 É vitamina pra alma, melanina tem
54 E todos querem degustar desse bom sabor (2x)
55 Vamo, vamo, vamo
56 Sem corpo mole, mole, mole
57 Tamo no corre, corre, corre
58 A coisa tá preta, preta
A COISA tá preta. Intérprete: Rincon Sapiência. Compositores: Claudio Slom, Octavio Billy Jr., Paulinho da Costa e Rincon Sapiência. In: GALANGA LIVRE. Intérprete: Rincon Sapiência. [S. l.]: Boia Fria Produções, c2017. Faixa 9. Disponível em: https://open.spotify.com/ intl-pt/track/2yFEAhTvRurnsYQs0JFTHQ?si=25b1068222734f26. Acesso em: 16 set. 2024.
bombeta: boné.
lambreta: tipo de drible em que o jogador eleva a bola com o(s) pé(s) e a lança por cima da cabeça do adversário, passando por ele depois da manobra para recuperá-la; no contexto do futebol, o mesmo que chapéu Manicongo: título dos governantes do reino do Congo; um dos nomes artísticos de Rincon Sapiência. cabaça: recipiente feito do fruto de determinadas plantas, utilizado para carregar água ou para compor alguns instrumentos musicais, como o berimbau.
berimbau: instrumento musical construído com um arco de madeira, um fio de arame e meia cabaça.
1. a) Nos versos, ao tratar da opressão sofrida pela população negra do ponto de vista dos sujeitos oprimidos, o eu lírico reivindica as experiências de sofrimento como elementos formadores de identidade e orgulho. Em vez de serem vistos apenas como vítimas, esses sujeitos são retratados como heróis de resistência.
1. Observe o modo como elementos do passado histórico se associam ao momento presente no decorrer da letra analisada.
a) Releia os versos 31 e 32. Neles, o eu lírico ressignifica a opressão sofrida pela população negra. Explique de que maneira essa ressignificação acontece.
b) Na letra, elementos tradicionalmente relacionados à cultura negra são acionados para explicitar a resistência dessa população. Retome os versos de 11 a 13 e reflita sobre os possíveis significados da expressão armando no contexto do texto lido.

2. No texto, o eu lírico faz referência a duas personalidades para construir os argumentos apresentados.
2. a) O eu lírico se refere a Zumbi e Nzinga.
a) Quais são as personalidades às quais o eu lírico se refere?
b) R ealize uma pesquisa a respeito dessas personalidades. Para isso, acesse sites acadêmicos ou associados ao governo, como o da Fundação Cultural Palmares, além de livros de História. Em seguida, registre, no caderno, o que você aprendeu sobre elas.
c) Como essas personalidades auxiliam na construção da identidade da população negra? Explique sua resposta considerando o contexto da letra de Rincon Sapiência.
NÃO ESCREVA NO LIVRO. Rapper em ascensão Rincon Sapiência, nome artístico de Danilo Albert Ambrosio, é poeta, MC e beatmaker. Em 2005, venceu o campeonato de improviso no Fórum Social Mundial. Em 2010, foi indicado para o Video Music Brasil 2010 na categoria Rap . Seu álbum Galanga livre , lançado em 2017, foi eleito o melhor disco solo brasileiro do ano pela revista Rolling Stone Brasil
3. Observe a maneira como a relação com a dança é explorada no conto “Os pés do dançarino” e na música “A coisa tá preta”. Em seguida, responda às perguntas.
3. b) Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor.
a) Como a dança é descrita e apresentada no conto e na música, respectivamente?
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor.
b) De que maneira a dança contribui para a construção da identidade em “Os pés do dançarino” e em “A coisa tá preta”?
c) Em sua leitura, qual é o impacto emocional e social da dança para as personagens e para a comunidade retratada em cada um dos textos? Explique.
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor.
4. A expressão “a coisa tá preta”, repetida em diversos momentos ao longo da música, é usualmente utilizada com uma conotação negativa. Considerando os versos 47 a 54, discuta o modo como o eu lírico ressignifica essa expressão.
O rap é um gênero musical que combina ritmo, poesia e discurso. Suas letras são faladas e acompanham uma batida ritmada. A palavra rap é uma abreviação de rhythm and poetry (“ritmo e poesia”). O rap surgiu nas comunidades negras de Nova York (EUA), na década de 1970, em festas de rua no bairro do Bronx.
As primeiras manifestações do rap brasileiro aconteceram em São Paulo, cidade na qual grupos como Racionais MC’s surgiram, trazendo letras que abordavam a realidade das periferias.
5. Em entrevista concedida ao rapper Mano Brown (1970-), no podcast Mano a Mano, Conceição Evaristo afirmou que considera o rap uma escrevivência. Discuta quais características do rap permitem essa associação.

■ Rincon Sapiência em seu apartamento no bairro da Bela Vista, no centro de São Paulo, em 2019.
2. b) Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor.
2. c) Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor.
4. Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor.
5. Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor.
1. b) No contexto da cultura negra, armar o cabelo crespo pode simbolizar a valorização da estética natural e a afirmação da identidade negra. Além disso, armando também pode implicar em uma resistência ativa, na qual a preparação para a luta contra a opressão é contínua. Assim, a expressão apresenta tanto a ideia de empoderamento pessoal quanto de luta coletiva.
6. Estão corretas as afirmações I e II. Em relação à afirmação III, comente com os estudantes que a representação do pronome nós como nóis é considerada um desvio normativo, mas não um erro, porque se trata de uma variação linguística característica de determinado grupo social. Ela desvia da norma-padrão, mas, se for considerada como erro, invalida a existência do registro que identifica esse grupo.
6. A construção da letra de rap evidencia recursos linguísticos que conferem a ela traços de identidade de um grupo, além de certos efeitos sonoros. Releia estes versos e copie, no caderno, as afirmações corretas sobre eles.
(Vam’bora!)
Ritmo tribal no baile nóis ginga
Cada ancestral no tronco nóis vinga
I. Vam’bora é uma expressão informal, típica da oralidade, que evidencia uma contração de Vamos embora, tal como se pronuncia essa expressão.

II. Ginga e vinga são duas palavras com escritas semelhantes, chamadas de parônimos (quase homônimos, diferenciando-se ligeiramente na grafia e na pronúncia), que criam entre os versos um efeito de paralelismo e rima intencional.
III. Nóis é considerado um erro segundo a gramática, pois o pronome deve sempre ser escrito tal como a regra, nós
Figuras sonoras
A exploração intencional dos sons da língua como recurso de expressividade para criar certos efeitos de sentido em textos orais ou escritos constrói diversas figuras sonoras de linguagem.
Leia, a seguir, o trecho de uma entrevista de Conceição Evaristo. Em seguida, reflita sobre as questões apresentadas.
Alô, Emicida, Conceição Evaristo está preparando uma canção. ‘O meu sonho é escrever um rap. Já até comecei’, disse em entrevista a Universa por vídeo chamada desde sua casa em Igarapé (MG). […]
[…]
E a luta, diz Conceição, é também por meio da linguagem, da palavra, da arte. ‘Quando um menino desse [como o Emicida], da quebrada, diz, ‘é nóis por nóis’, ele sabe que é ‘por nós’, mas essa atitude de ferir a língua portuguesa já é muito emblemática, é muito sintomática. Eles querem impor a linguagem deles e impor a linguagem é um modo de afirmação. Nós vamos impor a linguagem, vamos impor o nosso corpo, vamos impor a nossa arte’.
EVARISTO, Conceição. O meu sonho é escrever um ‘rap ’, diz Conceição Evaristo. [Entrevista cedida a] Giuliana Bergamo. [S. l.]: Universa UOL, 29 nov. 2021. Disponível em: https://www.uol.com.br/universa/noticias/ redacao/2021/11/29/agora-quero-fazer-um-rap-diz-conceicao-evaristo.htm. Acesso em: 5 set. 2024.
• Em sua fala, a autora discorre sobre a atitude de “ferir” a língua portuguesa como um gesto de resistência. Discuta com os colegas o significado dessa fala, considerando o que você aprendeu sobre o tema em seus estudos linguísticos.
Resposta pessoal. O objetivo da questão é estimular a reflexão sobre a diversidade linguística e a importância da língua na construção das identidades dos sujeitos, além de combater o preconceito linguístico.
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor
É esperado que os estudantes reconheçam que a apresentação das características de Davenir e a descrição do evento na cidade contribuem para gerar uma atmosfera de suspense em relação ao que aconteceria após a apresentação, despertando o envolvimento no leitor.
Neste capítulo, você estudou a estruturação do gênero conto. Nesta oficina literária, a turma irá se organizar em duplas para elaborar um conto.

As características do protagonista Davenir são coerentes, porque ele demonstra ser um rapaz que, com a fama adquirida, deixou de pensar na sua origem e na sua ancestralidade.
1. Nesta Oficina Literária, a motivação para iniciar a produção do texto proposto envolve a análise estrutural do conto “Os pés do dançarino”. Para isso, releia o conto e responda às questões a seguir.
• Observe características do protagonista Davenir. Elas são coerentes em relação aos acontecimentos narrados na história?
• Analise o clímax da narrativa. De que modo a estrutura da história contribui para evidenciar esse acontecimento e gerar envolvimento no leitor?
• E xamine o desfecho do conto. O desfecho é de sucesso ou fracasso para o protagonista? No seu ponto de vista, o que motivou a autora a escolher esse desfecho?
1. Um dos momentos mais difíceis na escrita de um conto é realizar um bom planejamento da história. No planejamento, você deverá escolher o modo como os personagens serão apresentados, quais serão suas características, qual será o clímax da história e se o desfecho será de fracasso ou de sucesso para o protagonista. Para facilitar essa etapa, é importante:
• definir um tema para o conto e o modo como esse tema será explorado no decorrer da história, a fim de gerar o efeito de sentido escolhido por vocês;
• escolher um conflito central para a história, que constituirá o clímax e orientará o modo como a apresentação e o desfecho da história irão se estruturar;
• elaborar um protagonista consistente, com características coerentes ao enredo da história.
• estabelecer as características do narrador e escolher se ele irá ou não participar da história.
Resposta pessoal. É esperado que os estudantes reconheçam que o desfecho é de fracasso para o protagonista, uma vez que ele ficou sem os pés, e que entendam que essa escolha foi motivada pelo foco do conto ser criticar a relação do protagonista com os seus antepassados, que foram esquecidos por ele após a fama.
O conto é um gênero literário narrativo, com estrutura concisa, poucos personagens, espaço e tempo delimitados e enredo que se desenvolve em torno de um único conflito. Do ponto de vista estrutural, o conto se divide em apresentação, desenvolvimento e desfecho. Na estrutura do conto, manter a coesão e a coerência entre os elementos da história e as características dos personagens é muito importante para garantir a compreensão e o envolvimento do leitor.

2. Com o planejamento elaborado, a dupla deve se dedicar à escrita do conto. Para isso, pense o modo como cada etapa da história será apresentada ao leitor. Para facilitar a escrita, reserve dois parágrafos para a apresentação, três para o desenvolvimento e um para o desfecho da narrativa. Para garantir a expressividade da escrita e o envolvimento do leitor, é importante:
• fazer uso de descrições e caracterizações e discorrer sobre os sentimentos do personagem diante dos acontecimentos;
• escolher uma linguagem adequada ao que se pretende narrar e ao público-alvo pensado por vocês;
• prestar atenção ao modo como coesão e coerência se estabelecem na narrativa para garantir uma progressão lógica dos acontecimentos e trazer fluidez para a leitura;
• elaborar um título chamativo, que desperte no leitor curiosidade pela história.
1. Com o colega de dupla, leia as questões a seguir e utilize-as como roteiro para avaliação e reescrita do conto.
• O título da reportagem é chamativo? Ele se relaciona ao tema da narrativa?
• A escrita do texto apresenta linguagem adequada ao público-alvo? O estilo da escrita é o mesmo na totalidade do texto?
• A apresentação da narrativa conta com descrições e caracterizações dos personagens e do ambiente no qual a história irá se desenrolar?
• O desenvolvimento do conto apresenta um clímax consistente? As descrições psicológicas do protagonista e do evento narrado foram apresentadas de forma coesa?
• O d esfecho do conto condiz com o modo como o restante da narrativa foi desenvolvida?
2. Geralmente, o gênero conto faz uso da linguagem formal. Assim, aspectos linguísticos como norma-padrão, pontuação adequada, mecanismos de concordância nominal e verbal, entre outros, devem ser respeitados. Caso opte por utilizar a linguagem informal, é importante que essa escolha esteja pautada nas características da história ou dos personagens e que a sua utilização não prejudique a coerência e a coesão textual.
Atualmente, os contos podem ser compartilhados de diversas maneiras: em blogues, redes sociais, portais de publicação literária ou coletâneas. Diversos contos serão produzidos pelas duplas da turma, e essa pode ser uma oportunidade para a criação de uma coletânea de contos da sala – converse com o professor sobre essa possibilidade.
A seguir, serão apresentados dois trechos de textos diferentes. O primeiro deles foi escrito pela filósofa e antropóloga Lélia Gonzalez (1935-1994) e o segundo compõe uma entrevista com o cientista social Thiago Torres (2000-), mais conhecido como Chavoso da USP.

Por isso, a gente vai trabalhar com duas noções que ajudarão a sacar o que a gente pretende caracterizar. A gente tá falando das noções de consciência e de memória. Como consciência a gente entende o lugar do desconhecimento, do encobrimento, da alienação, do esquecimento e até do saber. É por aí que o discurso ideológico se faz presente. Já a memória, a gente considera como o não saber que conhece, esse lugar de inscrições que restituem uma história que não foi escrita, o lugar da emergência da verdade, dessa verdade que se estrutura como ficção. Consciência exclui o que memória inclui. Daí, na medida em que é o lugar da rejeição, consciência se expressa como discurso dominante (ou efeitos desse discurso) numa dada cultura, ocultando memória, mediante a imposição do que ela, consciência, afirma como a verdade. Mas a memória tem suas astúcias, seu jogo de cintura: por isso, ela fala através das mancadas do discurso da consciência. O que a gente vai tentar é sacar esse jogo aí, das duas, também chamado de dialética. E, no que se refere à gente, à crioulada, a gente saca que a consciência faz tudo prá nossa histór ia ser esquecida, tirada de cena. E apela prá tudo nesse sentido. Só que isso tá a í … e fala.

■ Lélia Gonzalez no Rio de Janeiro, em fotografia de 1985.
GONZALEZ, Lélia. Racismo e sexismo na cultura brasileira. Revista Ciências Sociais Hoje, [s. l.], n. 1, p. 223-244, 1984. p. 226. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/7395422/mod_resource/content/1/GONZALES%2C%20Lélia%20 -%20Racismo_e_Sexismo_na_Cultura_Brasileira%20%281%29.pdf. Acesso em: 16 set. 2024.
[REVISTA OUTRAS FRONTEIRAS] Podemos dizer que o jovem de periferia tem contato maior com um pensamento crítico através do RAP. [...] a UNICAMP adicionou o álbum ‘Sobrevivendo no inferno’, dos Racionais MC’s, entre as bibliografias exigidas no vestibular. Qual a importância do RAP em sua caminhada e qual a atualidade desse disco?
Chavoso: A importância desse disco é justamente o que vem na primeira frase da pergunta. A gente tem contato com um pensamento crítico através do RAP, então ele tem esse papel extremamente importante na minha vida, na minha formação de me entender, de perceber o meu lugar no mundo, de entender a minha condição enquanto um sujeito periférico, enquanto uma pessoa negra, de criar um senso de coletividade entre os outros moradores da periferia, o RAP, e os Racionais são fundamentais em tudo isso.
Eles mexem com nosso sentimento e com nosso intelecto, ao mesmo tempo, fazendo a gente refletir sobre a realidade e fazendo a gente ter esses sentimentos, seja o sentimento de nostalgia, de boas
4. Espera-se que os estudantes reconheçam que o rap articula os conceitos de consciência e memória ao resgatar as histórias e vivências das comunidades periféricas, que muitas vezes são silenciadas ou distorcidas pela sociedade dominante.


O youtuber e ativista Thiago Torres durante debate sobre a militarização das escolas durante a Festa Literária Pirata das Editoras Independentes (Flipei), no centro de São Paulo, em 2024.
lembranças com a nossa infância, ou tristes lembranças de pessoas que a gente perdeu, ou um sentimento revolucionário. Então o RAP, mano, é fundamental em todas as áreas da nossa vida e comigo não foi diferente. E sobre a atualidade do disco, é sim mano, infelizmente é muito atual. Eu acho que praticamente tudo que é mencionado ali naquele disco de 1997 continua acontecendo até hoje, muitas coisas vão até piorando, para falar a verdade. Algumas melhoram também, como por exemplo, aqui em São Paulo expandiu as linhas de metrô, teve algumas melhoras, alguns hospitais construídos nas periferias, mas muita coisa continua. A questão do genocídio não para de crescer, que é tema central do álbum, então infelizmente é isso, mas os próprios Racionais falavam naquela época, mas aí em outro álbum, na música A Vida é Desafio: ‘500 anos de Brasil e o Brasil nada mudou’ Então se não mudou em 500 anos, infelizmente não ia ser em 20 que ia mudar, mas importante é não perder a esperança.
TORRES, Thiago. Entrevistando Thiago Torres, o “Chavoso da USP”. [Entrevista cedida a] Bruno Miranda e Jadir Carneiro. Revista Outras Fronteiras, Cuiabá, v. 9, n.1, p. 199-206, jan./jul. 2021. p. 202. Disponível em: https://periodicoscientificos.ufmt.br/outrasfronteiras/ index.php/outrasfronteiras/article/view/462. Acesso em: 16 set. 2024.
1. Como Lélia Gonzalez define consciência e memória?
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
2. Lélia Gonzalez classifica a relação entre memória e consciência como dialética, ou seja, uma relação que se baseia na contradição. Considerando o trecho “a memória tem suas astúcias, seu jogo de cintura: por isso, ela fala através das mancadas do discurso da consciência” e os seus conhecimentos adquiridos no decorrer deste capítulo, explique essa contradição.
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor.
3. Em seus textos teóricos, Lélia Gonzalez optou por manter marcas de informalidade na linguagem. Thiago Torres, o Chavoso da USP, também mantém, em sua fala, o uso de gírias e de uma linguagem associada à informalidade típica da linguagem coloquial. Levante uma hipótese sobre o que motivou esses intelectuais a manter tais traços de linguagem.
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor

4. Chavoso da USP associa o rap à formação do jovem periférico. Para você, de que modo o rap articula os conceitos de consciência e memória?
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
5. Argumente sobre a importância de jovens da periferia ocuparem os espaços da universidade. Utilize os conceitos de consciência e memória para sustentar a sua argumentação.
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
Na seção Estudo Literário, você analisou o conto “Os pés do dançarino”, de Conceição Evaristo, que, por meio da narrativa literária, destacou o ofício daquele que atua nas linguagens artísticas por meio da dança. A seguir, você vai ler um trecho da transcrição do discurso de posse da 17 a cadeira da Academia Brasileira de Letras (ABL), proferido por Fernanda Montenegro (1929-). Nele, a atriz destaca o ofício daqueles que exercitam as linguagens artísticas por meio da atuação.

Antes de iniciar a primeira leitura do texto, comente com os colegas as questões a seguir.
• Neste capítulo, será apresentado o discurso proferido pela atriz Fernanda Montenegro em 2022, quando tomou posse da 17a cadeira da Academia Brasileira de Letras. O que você espera de um discurso escrito para a aceitação desse cargo?
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor. Resposta pessoal. Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor.
• Ao longo da vida, testemunham-se diferentes situações comunicativas nas quais o gênero discurso é exercido. Que tipos de discurso você já testemunhou? Quais eram os interlocutores envolvidos nessas situações?
Respostas pessoais. Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
Acadêmico Merval Pereira, Sr. Presidente. Acadêmica Nélida Piñon, Secretária-Geral. Acadêmico Joaquim Falcão, Primeiro-Secretário. Excelentíssimo Sr. Eduardo Paes, Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro. Excelentíssimo senhor Faustine, Marcos Faustine, secretário de Cultura do município do Rio de Janeiro. Senhor Renan Ferreirinha, secretário de Educação do município do Rio de Janeiro. Shakespeare!
William Shakespeare deixou eternizado este conceito estrutural como afirmação de uma Arte: ‘o mundo é um palco... e todos nós, seres humanos, somos atores nesses palcos’.
Agradeço e muito – com o meu coração e a minha razão – estar sendo aceita nesta Casa por este elenco protagonista, referencial, da nossa mais alta Cultura, que é a Academia Brasileira de Letras.
Emocionada, tomo posse neste momento da cadeira de número 17, pedindo às Senhoras e aos Senhores Acadêmicos, compreensão pela maneira como expressarei esta minha pulsação de vida, pulsação de vida que trago comigo neste ato.
Como prólogo desta minha fala, devo esclarecer que sou uma incansável autodidata, cuja

■

origem intelectual, emocional, sempre me chegou e ainda me conduz através da vivência inarredável de um ofício: atriz. Sou atriz.
Venho dessa mítica, mística arte arcaica, eterna, que é o Teatro.
Sou a primeira representante da cena brasileira, do palco brasileiro, a ser recebida nesta Casa, nesta Academia. [Aplausos da plateia.]
Solicitaria a paciência das Senhoras e dos Senhores Acadêmicos, e demais presenças, para trazer, sem me estender, alguma vivência, memórias, desta minha profissão, já que, por ela existir, aqui estou.
Esse meu ofício – não para todos – esse meu ofício expressa uma estranheza compreensão. A raiz desta arte está na complexidade de só ‘existir’ através do corpo e da alma de um ator ou uma atriz ao trazer a literatura dramática para a verticalidade cênica.
É a carnificação da dramaturgia escrita. Do ‘ser ou não ser’ sobre as tábuas de um palco.
Não se cumpre essa profissão sem devoção, sem obstinação, sem coragem.
É um ofício de absoluta solidão em que o outro é fundamental. Buscar o outro. Somar com o outro numa estrutura só, numa estrutura. Daí estarmos sempre – falo de atores de teatro – na esperança de total e imediata aceitação: da tragédia à comédia, do drama à farsa, à sátira.
Albert Camus, filósofo e escritor, define o ator como a configuração de sua visão filosófica. Para Camus, este ofício simboliza ‘o absurdo do existir.’
Pequeno trecho do seu extraordinário ensaio “O Mito de Sísifo”. Diz Camus: ‘O ator reina no domínio do mortal. De todas as glórias do mundo sabemos que a sua é a mais efêmera. E é também o ator quem mais percebe, entre os homens, que tudo deve morrer um dia.’
Sim. Na nossa Arte, o ato cênico exige o ser humano aceitar como criatividade morrer e renascer. Morrer e renascer. Morrer e renascer. É uma opção de vida inquietante. Abstrata, embora corporificada. Uma sobrevivência desafiadora. Sem escamoteio. É ou não se é. De imediato, aceito o renegado. É a existência humana numa absoluta liberdade criadora, tendo só… aliás, não só o corpo, mas a alma como instrumento de criação.
É a sublime Arte amoral. Sou parte de uma arte amoral.
É uma Arte amoral da qual somos os oficiantes criadores.
Para alguns, esta é uma profissão marginal como comportamento.
Nenhum pai e mãe nenhuma [risos da plateia] aceitam com tranquilidade um filho – muito menos uma filha [risos da plateia] – optar profissionalmente pelo palco. Amadoristicamente até podem [risos da plateia]. Como profissão, não.
Mas a vida nos palcos, nas arenas, existe nessa ‘Terceira margem do rio’ há milhares e milhares e milhares de anos. […]
E na minha eterna e imensa saudade, o homem de teatro, Fernando Torres [aplausos da plateia] – uma vocação sem igual – minha incansável e louca retaguarda. A ele eu devo 60 anos de uma busca de realização artística pelos muitos e muitos e muitos palcos deste país. E, como o máximo encontro do nosso existir, devo a Fernando Torres a particular ‘Tribo de Oficiantes Vocacionados’: meus filhos. Nossos filhos.
E chegamos, sim, a este novo século com uma inarredável presença vocacionada de criadores cênicos plenos de talento: atrizes, atores, encenadores, dramaturgos, cenógrafos, figurinistas.
Somos uma raça indestrutível [risos e aplausos da plateia] mesmo diante dessa brutal, trágica posição governamental contra a cultura da arte… das artes que, no momento, estamos vivendo no Brasil.
Mas resistimos. Resistimos. Sempre.
Somos eternos.
Encerro assim este prólogo, esta minha explanação geral sobre o mundo de onde eu venho. Para mim, um mundo cultuado porque é sagrado. Para mim, esse mundo é sagrado.
[…]
Prezadíssimas Acadêmicas, Prezadíssimos Acadêmicos, prezadas personalidades… Simone De Beauvoir afirma que ‘o acaso tem sempre a última palavra’.

O que motivou uma mulher de teatro aceitar se candidatar e estar, neste momento, na Cerimônia de Posse de uma cadeira nesta Casa? Como o ‘acaso’ se apresentou?
Nas minhas primeiríssimas vindas à Academia, certo dia, um belo e elegante senhor de presença altamente civilizada, com quem eu nunca trocara uma palavra, veio ao meu encontro. E, de uma maneira determinada, clara, direta, sem sorrisos, com total cumplicidade e delicadeza, intimou:
‘Fernanda, escreva um livro e entra para a Academia.’ [Risos da plateia.]
Permanecemos um instante nos olhando. Voltei da minha surpresa. Agradeci. E logo ele seguiu em direção a outras pessoas ali presentes.
Nesta importante sala, toda vez que o via, sabia que ele viria ao meu encontro. E no tom de um ‘cúmplice comando,’ delicadamente irmanado ordenava: ‘Fernanda, escreva um livro e entra para a Academia’. [Risos da plateia.] Eu sempre agradecia e ele seguia adiante.
Nos olhos daquele homem, sempre li uma objetividade comovente.
Por que a insistência, tão surpreendente, daquele Acadêmico para comigo? Por que achar, com absoluta crença e respeito, que uma mulher de teatro, uma mulher do palco, teria o direito de estar na Academia Brasileira de Letras? Candidatura essa, para alguns, impensável, impensável.
A razão desse comando tão fraterno feito a mim por Affonso Arinos de Mello Franco –Affonso Arinos Filho – é que esse ser humano era um ativista cultural real. Na pele, um artista. Um irmão da mesma fé.
Além de escritor, um potencial cantor… ator… Um feliz e saudável boêmio… Companheiro de grandes figuras da nossa dita ‘criatividade popular’ – criatividade popular da qual eu faço parte, como igualmente o nosso grande, grande, grande artista absoluto Gilberto Gil. [Risos da plateia.] Somos artistas populares sim com a graça de Deus e de todos os deuses, somados, deste nosso Brasil.
[...]

■ Fernanda Montenegro e o cantor e compositor Gilberto Gil (1942-) encontram-se na cerimônia de posse da atriz na ABL. Fotografia de 2022.
Affonso Arinos de Mello Franco – Affonso Arinos Filho – tomou posse da cadeira número 17 no dia 26 de novembro de 1999.
Quem o saudou na cerimônia foi o Acadêmico José Sarney num pronunciamento vigoroso, nobre, sobre o grande caráter, sobre a personalidade tão civilizada, tão sensibilizada desse brasileiro.

Fernanda Montenegro nasceu no Rio de Janeiro, no dia 16 de outubro de 1929. É uma das mais importantes atrizes brasileiras, considerada a primeira-dama do teatro nacional. Estreou no rádio em 1943, aos 15 anos, e no teatro em 1951. Foi a primeira atriz contratada pela TV Tupi, em 1951. No cinema, fez inúmeras participações e, em 1998, concorreu ao Oscar de Melhor Atriz por sua atuação em Central do Brasil , filme de Walter Salles (1956-).
Ao longo de toda a sua trajetória, recebeu inúmeros prêmios nacionais e internacionais. Em 2022, foi nomeada membro da Academia Brasileira de Letras.

■ Fernanda Montenegro na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, em 2023.
Dessa saudação, eu destaco estas palavras do Acadêmico José Sarney: ‘Podemos analisar sua vida e sua obra por três grandes vertentes – o homem de estado, o político, o escritor. Temos, no homem de estado, o servidor público, o diplomata, o embaixador, o negociador e operador de relações internacionais, marcando sua carreira – não pela burocracia burocrática, a consumir-se no cotidiano de suas tarefas, mas, com espírito público, com posições nítidas, defendendo políticas públicas, colocando ideias claras voltadas sempre pela compreensão de que os interesses do Brasil não se esgotam nos assuntos específicos do País, mas na visão de sua inserção no mundo, no destino dos homens, na revisão das injustiças a começar pelas desigualdades sociais. Affonso Arinos rompeu as camisas de força do formalismo para cumprir a fidelidade de seus ideais cristão e de humanidade.’
Estas são palavras do Acadêmico José Sarney.
O Acadêmico Affonso Arinos Filho faleceu em 15 de março de 2020.
Diante da morte desse homem – um ser humano tão dimensionado na sua vivência tão existencial – eu me perguntei: por que não obedecê-lo? Por que não aceitar aquele comando tão... assim, vindo de um brasileiro que, como eu, como eu, sabia o que representa a transcendência de um palco?
Ousei o obedecer. Saudá-lo.
Aceitei esse desafio a minha vocacionada vida vivida nos incontáveis e resistentes palcos deste nosso Brasil.
Uma mulher de teatro? Uma atriz! Se candidata à Academia Brasileira de Letras.
Fato emblemático, detalhe do ‘acaso’ a sublinhar:
Nessa cadeira número 17, que eu ocupo a partir desse momento, nela, o meu Patrono Roquette Pinto, Afonso Arinos de Mello Franco e eu – por imortalidade acadêmica – estaremos para sempre juntos. Estaremos juntos. Para sempre.
Como disse o Bardo:
‘Há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha nossa vã filosofia.’
Prezado Presidente da Academia Brasileira de Letras, Acadêmico Merval Pereira, prezadas Senhoras Acadêmicas, prezados Senhores Acadêmicos, prezados amigos aqui presentes, autoridades, minha querida família, falo neste momento, como uma Acadêmica desta Casa. [Aplausos da plateia.] Esta conquista não está circunscrita à minha pessoa. Não. É uma ação abrangente.
A sublime e resistente história dos nossos palcos agradece à esta Casa o reconhecimento cultural da nossa Arte Cênica.
Os 300 anos do teatro no Brasil, em estado de aleluia, saúda a Academia Brasileira de Letras por este ato tão íntegro, tão civilizado, tão libertário.
O nosso muito obrigado. Amém!
Transcrito de: CERIMÔNIA de posse da Acadêmica Fernanda Montenegro. [S l.: s n.], 2022. 1 vídeo (115 min). Publicado pelo canal Academia Brasileira de Letras. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=AqCtSIM7Rzs. Acesso em: 4 out. 2024.
3. d) Porque ela não poderia ser aceita na Academia apenas pelo ofício de atriz, mas por ter livro publicado. De qualquer forma, achou importante enfatizar o ofício que a guiou por toda carreira profissional. É importante que os estudantes tenham o conhecimento de que William Shakespeare, embora também tenha sido poeta, é bastante reconhecido por sua trajetória artística como dramaturgo e ator.
2. b) Ela se refere aos presentes como “elenco protagonista”, no trecho: “elenco protagonista, referencial, da nossa mais alta Cultura, que é a Academia Brasileira de Letras”.
1. A hipótese criada por você no primeiro item do boxe Primeiro olhar se confirmou? Algum trecho do discurso o surpreendeu? Se sim, qual? Compartilhe as suas impressões com os colegas.
2. O discurso que você leu foi proferido por Fernanda Montenegro no dia de sua posse na Academia Brasileira de Letras. Logo após saudar as pessoas presentes nesse dia, a imortal apresentou a citação reproduzida a seguir.

Shakespeare!
1. Resposta pessoal. Incentive os estudantes a compartilhar seus trechos prediletos com os colegas e a explicar o porquê da escolha feita.
William Shakespeare deixou eternizado este conceito estrutural como afirmação de uma Arte: ‘o mundo é um palco… e todos nós, seres humanos, somos atores nesses palcos.’
a) A qual arte Fernanda Montenegro se refere?
Às artes cênicas, em especial ao teatro.
b) A atriz se refere aos demais imortais da Academia Brasileira de Letras com um termo também pertencente a essa arte. Qual é esse termo? Copie o trecho no qual essa referência é feita.
c) Ao utilizar esse termo, em que posição a atriz coloca os outros imortais no palco do mundo? Em sua opinião, qual seria a intenção dela ao fazer essa relação?
d) Copie, no caderno, o trecho no qual a atriz deixa clara a aceitação da cadeira que lhe foi ofertada.
O discursante e o público que ele representa O discurso de posse é um gênero textual bastante presente no campo de atuação d a vida pública e costuma ser proferido por alguém que se manifesta como representante de um grupo – p or exemplo, aquele que o elegeu a um cargo ou, de certa forma, foi o responsável por sua indicação. É comum, portanto, que o orador, em seu discurso de posse, busque manter o público que representa e angariar um novo público simpático a sua atuação ou causa. Esse movimento é ainda mais evidente em discursos de posse de cargos políticos.
2. c) Em uma posição privilegiada, na qual, como protagonistas, são os mais importantes papéis na alta cultura. Embora a resposta seja pessoal, espera-se que os estudantes comentem que provavelmente ela o fez na intenção de mostrar gratidão e de falar dos colegas de maneira lisonjeira.
3. Observe, a seguir, o artigo 2o do Estatuto da Academia Brasileira de Letras, o qual apresenta os critérios para a aceitação de um novo membro.
§ 2o - Constituída a Academia, será o número de seus membros completado mediante eleição por escrutínio secreto; do mesmo modo serão preenchidas as vagas que de futuro ocorrerem no quadro dos seus membros efetivos ou correspondentes.
Art. 2o - Só podem ser membros efetivos da Academia os brasileiros que tenham, em qualquer dos gêneros de literatura, publicado obras de reconhecido mérito ou, fora desses gêneros, livro de valor literário. As mesmas condições, menos a de nacionalidade, exigem-se para os membros correspondentes.
MACHADO DE ASSIS et al. Estatuto. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Letras, [28 jan. 1897]. Disponível em: https://www.academia.org.br/academia/estatuto. Acesso em: 10 set. 2024.
2. d) “Emocionada, tomo posse neste momento da cadeira de número 17, pedindo às Senhoras e aos Senhores Acadêmicos, compreensão pela maneira como expressarei esta minha pulsação de vida, pulsação de vida que trago comigo neste ato.”
a) O que torna a presença da atriz Fernanda Montenegro como membro da Academia Brasileira de Letras inédita?
Ela é a primeira representante do ofício da atuação, ou seja, do teatro, na Academia Brasileira de Letras.
b) Quais são as principais regras estabelecidas para a aceitação de um novo membro da Academia Brasileira de Letras?
A eleição deve ser secreta; só podem ser membros brasileiros; tais brasileiros precisam ter obras publicadas em qualquer gênero literário ou que possuam valor literário embora não sejam pertencentes à literatura.
c) Após tomar posse de sua cadeira, a atriz justifica o uso da citação de William Shakespeare (15641616) no início de seu discurso. O que ela explica nessa justificativa?
d) Considerando a leitura do discurso e do trecho do estatuto, responda: por que, em um discurso de posse na Academia Brasileira de Letras, tal explicação torna-se importante?
3. c) Ela explica que introduz a sua fala valorizando o ofício de atriz, responsável por sua origem intelectual e emocional; por isso, cita o dramaturgo William Shakespeare em um trecho no qual ele enaltece o teatro. Aproveite a questão para verificar se os estudantes conseguem apresentar a explicação com as próprias palavras, garantindo, portanto, a compreensão do texto.
4. a) O conto de Guimarães Rosa é citado para explicar o não lugar do ator, que muitas vezes é também um lugar de solidão, pois ele assume uma profissão que não costuma ser totalmente aceita pelas famílias.
4. b) Sendo um ator, diretor e produtor dedicado ao teatro, ele foi parceiro da atriz em alguns momentos dividindo projetos e em outros sendo a sua retaguarda. Na vida pessoal, foi o seu marido e pai dos seus filhos.

Seriam os filhos, frutos do casamento dela com Fernando Torres. São assim chamados porque seguiram ofícios parecidos com os dos pais, evidenciando, assim, uma vocação da família para as artes cênicas e fazendo com que ela se tornasse essa tribo. Os filhos de Fernanda Montenegro e Fernando Torres são Cláudio Torres, diretor e roteirista do cinema brasileiro, e Fernanda Torres, atriz e escritora.
A Academia Brasileira de Letras foi inaugurada em 20 de julho de 1897. Em uma sala do Museu Pedagogium, diante da presença de dezesseis acadêmicos, Machado de Assis (1839-1908) fez o seu primeiro discurso na condição de presidente da instituição. Com sede no Rio de Janeiro, atualmente, a ABL conta com 40 Acadêmicos efetivos e 20 sócios correspondentes estrangeiros. Sua missão é cultivar a língua e a literatura nacional. Para ler o discurso de Machado de Assis, visite a página oficial da ABL e consulte a indicação a seguir.
MACHADO DE ASSIS. Discurso de Machado de Assis. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Letras, [20 jul. 1897]. Disponível em: https://www.academia.org.br/academia/discurso-de-machado-de-assis. Acesso em 16 set. 2024.

■ Fachada da Academia Brasileira de Letras. A construção de 1922 é réplica do Petit Trianon do Palácio de Versalhes (França). Fotografia de 2021.
4. Ao falar sobre o ofício de atriz, além de fazer referência a William Shakespeare, Fernanda Montenegro cita outros artistas e suas obras. Faça uma breve pesquisa sobre Albert Camus e O mito de Sísifo; João Guimarães Rosa e a “Terceira Margem do Rio” e Fernando Torres. Em seguida, responda às perguntas.
a) Que relação é feita entre “A terceira margem do rio” e a vida nos palcos? Explique-a relacionando as descobertas da pesquisa que fez ao discurso.
b) Fernanda Montenegro faz menção à importância de Fernando Torres em sua vida pessoal e profissional. Como ele participou desses dois aspectos da trajetória da atriz?
c) A quem Fernanda Montenegro se refere como “Tribo de Oficiantes Vocacionados”? Considerando o significado dos termos por ela utilizados, qual seria a razão de essas pessoas serem assim identificadas?
Para pesquisar informações biográficas, considere as recomendações a seguir.
• Busque, na biblioteca da escola, livros que possam oferecer informações, especialmente sobre Albert Camus, O mito de Sísifo e “A terceira margem do rio”.
• Converse com o professor sobre as informações coletadas acerca das referências pesquisadas, procurando confirmar as descobertas feitas.
• Pesquise, em portais jornalísticos, textos a respeito de Fernando Torres.
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor
5. c) No mito, Sísifo também sofre um processo de repetição eterno: carregar a rocha para o pico da montanha e vê-la cair novamente. Fernanda compara o trabalho desse personagem mitológico ao ofício do ator, que dá vida e vê morrer um personagem a cada apresentação teatral.
5. Agora, releia o trecho do discurso de Fernanda Montenegro após ela fazer referência a Albert Camus e o O mito de Sísifo.
Sim. Na nossa Arte, o ato cênico exige o ser humano aceitar como criatividade morrer e renascer. Morrer e renascer. Morrer e renascer. É uma opção de vida inquietante.
5. a) Os verbos são morrer e renascer.
a) O trecho apresenta a repetição de dois verbos. Quais são eles?
b) A repetição é um recurso de estilo bastante utilizado no gênero textual discurso. Qual é o efeito de sentido criado pelo recurso de estilo aplicado nesse trecho?
Intensificar e enfatizar a reiteração do ofício de ator, que morre e renasce a cada apresentação.

c) De que maneira a repetição aplicada no discurso se relaciona a O mito de Sísifo?
6. Após terminar a parte do discurso que a atriz chama de prólogo, Fernanda Montenegro cita a escritora e intelectual Simone de Beauvoir (1908-1986), a quem deu voz nos palcos por duas vezes – a última em uma seção de leitura em 2024 e a primeira no monólogo Viver sem tempos mortos , em 2009.

■ Fernanda Montenegro faz leitura de textos da escritora e filósofa francesa Simone de Beauvoir para um público de cerca de 700 pessoas na parte interna do auditório do Ibirapuera, na cidade de São Paulo, em 2024. Cerca de 15 mil pessoas se reuniram na área externa do auditório para assistir, por um telão, a atriz ler textos inspirados na obra A cerimônia do adeus.
a) Qual frase da escritora francesa é citada pela atriz?
“O acaso tem sempre a última palavra”.
Seguindo o conselho dado pelo Acadêmico Affonso Arinos Filho (1930-2020) em suas visitas à Academia Brasileira de Letras, Fernanda Montenegro publicou em 2019 uma biografia, Prólogo, ato e epílogo , na qual conta desde memórias familiares até detalhes sobre sua carreira. Um ano antes já havia organizado uma fotobiografia, Fernanda Montenegro: itinerário fotobiográfico , livro que reúne imagens que contam a trajetória pessoal e profissional da atriz.
MONTENEGRO, Fernanda. Fernanda Montenegro: itinerário fotobiográfico. São Paulo: Edições Sesc, 2018. MONTENEGRO, Fernanda. Prólogo, ato e epílogo: memórias. Colaboração: Marta Góes. São Paulo: Companhia das Letras, 2019. Capa.

■ Capa do livro Prólogo, ato, epílogo, de Fernanda Montenegro.
b) D e que maneira essa frase se relaciona à história de Fernanda Montenegro com a Academia Brasileira de Letras e, especialmente, com a cadeira 17, a qual passou a ocupar?
O acaso se apresentou na história de Fernanda Montenegro na Academia Brasileira de Letras por causa da influência de Affonso Arinos Filho em sua candidatura. O imortal ocupava a cadeira 17, que foi então herdada pela atriz.
7. b) As pessoas que tiveram acesso à gravação do discurso falado ou à leitura do discurso escrito, disponibilizados em sites oficiais da ABL e em alguns veículos de imprensa.

Como sinônimo de introdução, Fernanda Montenegro utiliza um termo normalmente empregado no texto dramático.
8. c) O conteúdo é a abordagem sobre o ofício de atriz. O trecho de esclarecimento da proposta para o público é: “Solicitaria a paciência das Senhoras e dos Senhores Acadêmicos, e demais presenças, para trazer, sem me estender, alguma vivência, memórias, desta minha profissão, já que, por ela existir, aqui estou”.
7. Os discursos de posse, ainda que muitas vezes sejam previamente escritos, são produzidos para serem falados em público.
a) Quando o discurso que você leu foi proferido, quem eram os interlocutores da situação comunicativa?
A discursante, Fernanda Montenegro, e o público ouvinte, pessoas presentes na posse.
b) Tendo em vista que se trata de um discurso de posse de uma Acadêmica, momento considerado histórico, pode-se dizer que há um público mais imediato e outro mais amplo para o discurso. Quem faz parte do público mais amplo?
O gênero textual discurso de posse
O discurso é um gênero textual fundamentalmente oral, ou seja, planejado para ser falado e direcionado a um público ouvinte. É comum que o discursante escreva o texto do discurso, que posteriormente será lido, o que não impede que, no ato da leitura, ele acrescente marcas de oralidade ao texto. Um discurso também pode ganhar o registro escrito após ser proferido, por meio da transcrição, como o discurso de Fernanda Montenegro na ABL.
8. Leia, a seguir, a explicação para a palavra prólogo, utilizada no discurso de Fernanda Montenegro. prólogo pró·lo·go
sm
1 V prefácio.
2 TEAT Na tragédia grega, parte inicial em forma de diálogo ou monólogo, antes da apresentação do coro e da orquestra, na qual a temática da peça era esclarecida.
3 TEAT Cena que introduz uma peça, fornecendo os dados necessários para o entendimento do seu enredo.
4 Início de uma apresentação de qualquer tipo.
5 MÚS Na ópera, principalmente no século XVII, cena que a introduzia, explicando o contexto e apresentando dados que esclareciam as várias cenas que iriam se desenvolver.
PRÓLOGO. In: ITREVISAN, Rosana (coord.). Michaelis: dicionário brasileiro da língua portuguesa. São Paulo: Melhoramentos, c2024. Disponível em: https://michaelis.uol.com.br/moderno -portugues/busca/portugues-brasileiro/pr%C3%B3logo/. Acesso em: 10 set. 2023.
a) A qual parte do discurso o prólogo se refere?
À introdução do discurso.
b) Considerando as acepções apresentadas para a palavra prólogo, de que maneira o uso dela por Fernanda Montenegro remete ao ofício do ator?
c) O discurso de Fernanda Montenegro tem uma proposta clara quanto ao que ela afirma, construída no “prólogo” de sua fala. Identifique esse conteúdo e, em seguida, o trecho em que ela esclarece a proposta anunciada para o público.
8. d) Bloco I: Recuperação da trajetória de atriz com o objetivo de apresentar ao público as origens de sua arte.
Bloco II: Apresentação das histórias e dos acasos que fizeram com que ela assumisse a cadeira 17 da Academia Brasileira de Letras.
Bloco III: Agradecimento geral e recuperação da importância da conquista de um espaço na Academia Brasileira de Letras para o teatro brasileiro.
d) O discurso de Fernanda Montenegro pode ser dividido em três blocos. Observe as duas colunas a seguir e, no caderno, relacione o conteúdo ao bloco correto.
Bloco I: Prólogo
Bloco II: Desenvolvimento

Bloco III: Conclusão
Apresentação das histórias e dos acasos que fizeram com que ela assumisse a cadeira 17 da Academia Brasileira de Letras.
Recuperação da trajetória de atriz com o objetivo de apresentar ao público as origens de sua arte.
Agradecimento geral e recuperação da importância da conquista de um espaço na Academia Brasileira de Letras para o teatro brasileiro.
9. O discurso apresentado tem estrutura dissertativa e informativa, mas apresenta também uma tese central sobre o ofício do ator, que Fernanda Montenegro defende com argumentos.
a) No caderno, copie a tese central entre as opções a seguir.
I. A raiz do ofício de atriz está na estranha compreensão de materializar a literatura dramática no corpo e na alma do ator ou da atriz, como carnificação, na verticalidade cênica.
II. O ofício do ator é solitário porque demanda uma composição no próprio corpo e alma do ator.
III. O ofício do ator demanda que se aceite como criatividade a morte e o renascimento, diversas vezes, no mesmo corpo.
IV. O ofício do ator é amoral como comportamento.
V. Uma mulher atriz só deve se candidatar a uma cadeira da Academia Brasileira de Letras se for convencida por um integrante da academia previamente.
10. O diagrama a seguir apresenta algumas estratégias argumentativas que podem ser utilizadas para sustentar um argumento e convencer o interlocutor.
Alusão histórica
Referência a acontecimentos ou personagens históricos.
Exemplificação Apresentação de exemplos ou casos concretos.
Raciocínio lógico Indicação de conexões entre causa e efeito.
ARGUMENTATIVAS
Enumeração Apresentação de diferentes argumentos de forma organizada.
Citação
Menção a texto ou trecho extraído de outra fonte.
9. a) A tese central é a I. Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
O discurso de posse no universo político Quando o gênero textual discurso de posse é proferido no universo político, espera-se que os tipos textuais expositivo e dissertativo ganhem destaque. Com isso, o discurso expõe informações importantes e busca defender uma ou mais teses, apresentando argumentos que as sustentem, especialmente com o objetivo de sustentar a nomeação ao cargo do qual se toma posse.
Comprovação
Apresentação de dados, estatísticas e fontes confiáveis.
Comparação Indicação de paralelo ou contraste entre partes.

Estratégias
argumentativas
As estratégias argumentativas são mecanismos utilizados para validar e fortalecer argumentos que sustentam uma tese ou ponto de vista. Portanto, elas comandam a maneira como os argumentos serão apresentados e organizados em um texto. A escolha cuidadosa das estratégias argumentativas é indispensável para fundamentar qualquer texto argumentativo com qualidade.
10. I. Raciocínio lógico e citação.
II. Raciocínio lógico.
III. Citação, comparação e exemplo.
IV. Exemplificação e citação (a Guimarães Rosa).
A proposta de estudo das questões desta subseção envolve a análise de características da oralidade presentes no discurso de posse lido, possibilitando aos estudantes reflexões sobre formas de produção e realização dessa modalidade de discurso, além de seu contexto de circulação com base na interação com o público ouvinte.
11. O reconhecimento cultural às artes cênicas, ao se tornar a primeira atriz a ser considerada uma acadêmica e, assim, representar outras pessoas que atuam nessa arte.
• No quadro a seguir estão dispostas algumas afirmações que defendem a tese de Fernanda Montenegro no discurso. No caderno, identifique a estratégia argumentativa que se relaciona a cada uma dessas afirmações. Em alguns casos, pode haver mais de uma.
I. O ofício do ator é solitário porque demanda uma composição no próprio corpo e alma do ator.
II. O ofício do ator é de absoluta solidão.
III. O ofício do ator demanda que se aceite como criatividade a morte e o renascimento, diversas vezes, no mesmo corpo.
IV. O ofício do ator é muitas vezes considerado amoral como comportamento.
11. Uma das características específicas do gênero discurso de posse é apresentar o compromisso da pessoa que toma posse de algum cargo quanto ao futuro. Esse conteúdo costuma ser mais evidente em discursos de posse circunscritos ao universo político. No entanto, de certa maneira, Fernanda Montenegro evidencia em seu discurso o legado que deixa ao assumir o cargo. Qual é esse legado?
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor.
O discurso oral tem diversas particularidades relacionadas ao fato de ser um texto produzido em situação de interação face a face. Ainda que o discurso de posse de Fernanda Montenegro na Academia Brasileira de Letras seja lido e, portanto, previamente elaborado em modalidade escrita, no momento de sua fala ao público, ela insere muitos improvisos e interpreta essa leitura por meio de expressões faciais e gestuais, elementos típicos da interação oral com um público.
12. Observe a seguir a imagem da atriz e Acadêmica ao longo de seu discurso. Em seguida, responda às questões.

12. a) A preparação de um texto oral é importante para minimizar desvios de foco e improvisos típicos da fala espontânea. Por se tratar de um contexto de formalidade, já que é um discurso de posse na Academia Brasileira de Letras, a preparação permite à atriz criar estratégias de proximidade com o público ouvinte que se relacionem ao viés artístico e literário em foco na Academia.
a) O discurso foi previamente preparado pela atriz para a sua posse na ABL. Qual é a importância dessa escrita prévia de um texto que será lido para um público?
b) Observa-se na imagem que a atriz está olhando para a plateia e gesticulando. Qual é a importância dessas duas ações?
c) Em seu ponto de vista, os gestos e as expressões faciais da atriz também foram previamente pensados? Justifique com base na interpretação entre os quadros e o discurso lido.

12. b) Ainda que ela leia o texto previamente preparado, o contato dos olhos com o público cria um vínculo de atenção por parte do enunciador e de conexão com essa plateia, de modo que as pessoas possam se identificar e reconhecer os feitos da atriz nas palavras proferidas.
12. c) Respostas pessoais. Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
A intenção e os interlocutores de um discurso são aspectos importantes a se observar para compreender a função que ele pretende exercer na situação comunicativa em que se insere. Você leu um discurso de posse cujo principal objetivo era a aceitação do ingresso na Academia Brasileira de Letras. Leia, a seguir, um trecho do discurso proferido por Martin Luther King (1929-1968), no dia 28 de agosto de 1963, para milhares de pessoas negras estadunidenses que marchavam em Washington. Nele, o objetivo era bastante claro: reivindicar direitos.
Digo-lhes hoje, meus amigos, que, apesar das dificuldades e frustrações do momento, eu ainda tenho um sonho. É um sonho profundamente enraizado no sonho americano.
Eu tenho um sonho que um dia essa nação levantar-se-á e viverá o verdadeiro significado da sua crença: ‘Consideramos essas verdades como autoevidentes que todos os homens são criados iguais’.
Eu tenho um sonho que um dia, nas montanhas rubras da Geórgia, os filhos dos descendentes de escravos e os filhos dos descendentes de donos de escravos poderão sentar-se juntos à mesa da fraternidade.
Eu tenho um sonho que um dia mesmo o estado do Mississippi, um estado desértico sufocado pelo calor da injustiça, e sufocado pelo calor da opressão, será transformado num oásis de liberdade e justiça.

■ Martin Luther King Jr. dirige-se a uma multidão nos degraus do Lincoln Memorial, onde proferiu o seu famoso discurso “I have a dream”, durante a marcha pelos direitos civis de 28 de agosto de 1963, em Washington, D.C.
Eu tenho um sonho que meus quatro pequenos filhos um dia viverão em uma nação onde não serão julgados pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Eu tenho um sonho hoje.
“EU tenho um sonho”: há 55 anos, Martin Luther King proferia discurso histórico. Brasil de Fato, 28 ago. 2018. Disponível em: https://www.brasildefato.com.br/2018/08/28/eu-tenho-um-sonho -ha-55-anos-martin-luther-king-proferia-discurso-historico/. Acesso em: 19 ago. 2024.
1. Você sabe quem foi Martin Luther King e qual foi o seu papel na história dos Estados Unidos? Para responder a essa questão com mais embasamento, refaça o caminho de pesquisa proposto na atividade 4 desta seção. Depois, compartilhe as informações coletadas com os colegas.
Respostas pessoais. Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor.
2. b) O grupo de atores e trabalhadores das artes cênicas. Ela destaca esse grupo ao narrar a sua trajetória nas artes cênicas, ao se colocar em todo discurso primeiramente como atriz e ao enfatizar o ineditismo de ser a primeira atriz acadêmica da ABL.
2. c) O grupo de pessoas negras que, na época, reivindicavam direitos. Ele destaca esse grupo por meio do sonho que apresenta e ao inserir seus filhos como exemplos de integrantes dele.
2. Tanto no discurso de posse quanto no discurso de manifestação, é comum que o discursante se manifeste como representante de um grupo.
a) Ao proferir o seu discurso, Fernanda Montenegro assume uma cadeira na Academia Brasileira de Letras e, assim, passa a fazer parte de um grupo. Qual é ele?
O grupo dos acadêmicos da ABL, popularmente conhecidos como imortais.
b) Em seu discurso, no entanto, a atriz não se coloca como pertencente apenas a esse grupo, mas sim como pertencente a um grupo que agora tem a chance de adentrar a Academia Brasileira de Letras. Qual é esse grupo e de que maneira ela o destaca em seu discurso?
c) Da mesma maneira, Martin Luther King se coloca como integrante de um grupo. Qual é esse grupo e de que maneira ele o destaca em seu discurso?

d) Qual é a importância argumentativa de um discursante se colocar como integrante de um grupo?
Dessa maneira, o discursante consegue angariar um público que se sente representado e passa a concordar com o que é afirmado no discurso.
Ghost-writer
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor
Na Grécia antiga, a figura do advogado ainda não existia, mas, de certa maneira, a do ghost-writer sim. Por falta de advogados, cabia ao próprio cidadão se defender. Nesse caso, muitos recorriam aos serviços do logógrafo, que escrevia a defesa que seria decorada e, por fim, proferida pelo acusado.
O nome profissional conhecido em inglês, quando traduzido para a língua portuguesa, significa “escritor fantasma”. Embora pitoresca, a tradução é fiel ao papel desse escritor que produz textos por encomenda para outros autores e, por isso, não deve aparecer. O produto que esse profissional oferta é a própria escrita.
Na atualidade, os réus já contam com a defesa de um profissional, mas muitos ainda continuam a contar com a ajuda de ghost-writers .
• Elabore com sua turma um portfólio coletivo com as possibilidades de emprego para esse profissional, procurando responder à pergunta: quem contrata um ghost-writer ?
3. O discurso de Martin Luther King é marcado pela repetição de uma oração.
a) Qual é essa oração e em que lugar ela se repete?
A oração “Eu tenho um sonho”, que se repete sempre no começo dos períodos.
b) Em sua opinião, de que maneira o recurso de estilo utilizado auxiliou na grande repercussão obtida?
Resposta pessoal. Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
c) Na atividade 5 desta seção, você observou que o recurso da repetição também foi utilizado no discurso de Fernanda Montenegro. No entanto, ele é aplicado com uma diferença. Qual é ela?
A repetição não ocorre no início das frases, mas sim em frases repetidas dentro de um parágrafo.
REFLETIR E ARGUMENTAR
O grupo dos artistas, em especial das artes cênicas, que resiste muitas vezes à posição contrária ao exercício dessa arte tanto por famílias quanto por governos, que não incentivam e às vezes são contra a “cultura da arte”.
Uma característica que une os discursos de Fernanda Montenegro e de Martin Luther King é a defesa do que acreditam.
• Fernanda Montenegro se coloca como representante de um grupo indestrutível. Qual é esse grupo e a que ele resiste?
• Em seu discurso, Fernanda Montenegro afirma: “Nenhum pai e mãe nenhuma [risos da plateia] aceitam com tranquilidade um filho – muito menos uma filha [risos da plateia] – optar profissionamente pelo palco. Amadoristicamente até podem [risos da plateia]. Como profissão, não”. A seu ver, por que isso ocorre? Qual a sua posição em relação a isso?
Resposta pessoal. Uma sugestão de resposta é a estabilidade financeira, que nem sempre é alcançada na profissão de ator. Permita que os estudantes se sintam livres para opinar, no entanto procure valorizar as profissões relacionadas ao campo de atuação artístico-literário, relembrando inclusive trechos do discurso de Fernanda Montenegro.
Os textos lidos nas seções anteriores evidenciam estilos cuja construção aciona recursos linguísticos diversos. Esses textos apresentam marcas linguísticas que identificam determinados grupos de falantes. Nesta seção, o foco de estudo serão as figuras sonoras e seus efeitos de sentido em textos de outros gêneros, além dos lidos, bem como as formas de variação da língua que constroem a identidade de seus falantes.

Na seção Estudo Literário, introduziu-se o conceito de figuras sonoras de linguagem, recursos que exploram a sonoridade das palavras para criar certos efeitos de sentido.
1. Releia este trecho do rap “A coisa tá preta”.
Essa batida faz um bem, diz da onde vem
Corpo não para de mexer, dá até calor
É vitamina pra alma, melanina tem
E todos querem degustar desse bom sabor
1. b) A semelhança na sonoridade das palavras bem, vem e tem produz a rima interna no primeiro verso da estrofe e a rima alternada do final desse verso com o terceiro. O efeito sonoro dessas rimas marcam o ritmo do refrão da música de Rincon Sapiência.
a) No trecho, há três palavras com grafias e sonoridades próximas. Identifique-as
As palavras são bem, vem e tem
b) E xplique o efeito de sentido do emprego intencional dessas palavras nos versos.
Paronomásia
Quando, em um texto, palavras com semelhanças sonoras e gráficas são empregadas intencionalmente para criar efeitos de sentido relacionados à sua forma ou significado, ocorre a paronomásia .
2. Leia a primeira estrofe de “Negro drama”, uma das letras mais famosas do grupo Racionais MC’s.
Negro drama, entre o sucesso e a lama
Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama
Negro drama, cabelo crespo e a pele escura
A ferida, a chaga, à procura da cura
2. a) Trata-se da consoante r. A repetição desse fonema cria um ritmo que parece ser de obstrução, impedimento, dificuldade. Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor. 2. b) A paronomásia se dá com o uso dos parônimos lama e fama, que produzem uma rima emparelhada, uma vez que ocorre na posição final de dois versos em sequência.
NEGRO Drama. Intérprete: Racionais MC’s. Compositores: Edi Rock e Mano Brown. In: NADA como um dia após o outro dia. Intérprete: Racionais MC’s. São Paulo: Cosa Nostra, c2002. CD 1, faixa 5. Disponível em: https://open.spotify.com/intl-pt/track/3ytXzEJFeVydFfmUhHvti8?si=1058844e60b94409. Acesso em: 16 set. 2024.
a) Nesse trecho do rap, ocorre a repetição de determinada consoante. Identifique-a e explique seu efeito de sentido na construção da estrofe.
b) Nos dois primeiros versos de “Negro drama”, identifica-se uma paronomásia. Explique-a, bem como seu efeito de sentido para a letra do rap, considerando a posição em que aparecem nos versos.
Aliteração
Em um texto, quando há a repetição intencional de um mesmo fonema consonantal, ocorre a aliteração. Geralmente, o efeito de sentido pode ser conferir destaque ou aproveitar o som do fonema como extensão de outro som que se deseja projetar no texto.
3. Agora, leia o seguinte poema de Carlos de Assumpção (1927-2020).
3. a) A figura de Zumbi é apresentada no poema como um guerreiro onipresente, que, nesse sentido, se revela não só como símbolo de luta, mas também como uma entidade protetora, representante do orixá Ogum, capaz de proteger e lutar junto do povo negro.

A repetição de um refrão (“É Zum / É Zum / É Zum / É Zumbi / Zumbi de Ogum / Guerreiro de Ogum / Aqui”) e os versos compostos por termos nominais indicativos de lugar dão ao poema um ritmo marcado semelhante a uma invocação ou um canto religioso em honra de Zumbi, tratado como entidade protetora
É Zum
É Zum
É Zum
É Zumbi
Zumbi de Ogum
Guerreiro de Ogum
Aqui
Na praça na raça
Na reza fumaça
De incenso no ar
No canto de encanto
Na fala na sala
Na rua na lua
Na vida de cada dia
Em todo lugar
É Zum
É Zum
É Zum
É Zumbi
Zumbi de Ogum
Guerreiro de Ogum
Aqui
No rabo de arraia
No aço do braço
No samba de samba
No bumba-meu-boi
No bombo do jongo
Congada batuque
Maracatu maculelê
Zumbi Zumbi Zumbi
Guerreiro da Serra
Sob as estrelas acesas
Na madrugada
Nó do ebó na encruzilhada
É Zum
É Zum
É Zum
É Zumbi
Zumbi de Ogum
Guerreiro de Ogum
Aqui
ASSUMPÇÃO, Carlos de. Presença. In: ASSUMPÇÃO, Carlos de. Não pararei de gritar : poemas reunidos. Organização: Alberto Pucheu. São Paulo. Companhia das Letras, 2020. p. 59-60.
a) Como a imagem de Zumbi dos Palmares é apresentada nos versos de Carlos de Assumpção?
b) No poema, Zumbi é denominado “Guerreiro de Ogum”, divindade de origem iorubá cultuada nas religiões de matriz africana, como a umbanda e o candomblé. Ogum, nessa mitologia, é o Senhor da Guerra, das Armas e das Lutas. Considerando essa referência, identifique os recursos linguísticos que aproximam o poema do campo de atuação religioso.
c) Copie o quadro a seguir no caderno e preencha-o conforme o exemplo, com as repetições de sons encontradas no poema, identificando os versos em que elas estão, conforme o modelo.
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
A repetições constroem o ritmo do poema, ora com sons mais fortes, ora com sons mais abertos.
Sons vocálicos
É Zum / É Zum / É Zum / É Zumbi / Zumbi de Ogum – repetição do /u/.
Sons consonantais
É Zum / É Zum / É Zum / É Zumbi / Zumbi de Ogum – repetição do /z/.
d) Quais efeitos de sentido essas repetições conferem ao poema?
e) A f igura sonora paronomásia é também um recurso utilizado nos versos de Carlos de Assumpção. Identifique algumas dessas ocorrências e comente como elas contribuem para a estruturação do poema.
Praça/raça; fala/sala; rua/lua; aço/braço; bumba/bombo. Essas duplas de parônimos reforçam a musicalidade do poema, aproximando-o ainda mais de um canto invocativo.
f) Os versos “É Zum / É Zum / É Zum” representam, por escrito, um som que, além de compor o nome Zumbi, também tem outros significados. Identifique-os. Zum-zum-zum é a representação de um zumbido ou ruído indefinido que se repete, geralmente associado a um falatório. Zum-zum também pode representar o barulho produzido pelo voo de moscas e abelhas.
Assonância
Em um texto, quando há a repetição intencional de um mesmo fonema vocálico, para criar efeitos de sentido, ocorre a assonância .
Onomatopeia
São palavras escritas para representar sons específicos, como barulhos de animais, sons das cidades, ruídos, emoções e manifestações do corpo.

A linguagem empregada nos textos lidos até aqui, para além dos recursos de estilo, evidencia as variedades que constituem a língua portuguesa. Essa variação ocorre por diversos fatores –históricos, sociais, geográficos, gênero ou por força de um grupo, entre outros – que influenciam os falares e os registros escritos de um povo e provocam mudanças na língua.
4. Releia este trecho do rap “A coisa tá preta”.
Orgulho preto, manas e manos
Garfo no crespo, tamo se armando
De turbante ou bombeta
Vamo jogar, ganhar de lambreta
Problema deles, não se intrometa
Óia, a coisa tá ficando preta
4. a) A identidade do eu lírico emerge do contexto que ele cria por meio de expressões típicas de determinada comunidade de fala, como manas, manos, bombeta e lambreta.
4. b) As formas linguísticas tamo, vamo, óia e tá são características da fala em contextos de informalidade, predominantes nas periferias dos grandes centros urbanos, onde o rap é uma das principais formas de expressão. Ao utilizar tais marcas de oralidade, o eu lírico reafirma o seu pertencimento a esse grupo.
a) No trecho, é possível identificar aspectos linguísticos que contribuem para a construção da identidade do eu lírico. Quais são esses elementos? Explique.
b) A reprodução, na escrita, da letra de Rincon Sapiência preserva marcas da modalidade falada da língua. Identifique tais marcas e explique de que modo essa reprodução também contribui para a construção da identidade do eu lírico.
c) O termo bombeta é uma variação, comum na cidade de São Paulo, da palavra boné. Na sua comunidade linguística, que outros nomes são comuns para designar esse acessório?
Resposta pessoal. Incentive os estudantes a encontrar outros vocábulos que conheçam para se referir a boné.
Variação linguística
As línguas naturais variam porque seus sistemas não são homogêneos, ou seja, não apresentam regras únicas. Os usos de uma língua vão sendo criados e modificados pelos falantes, que sofrem influências sociais, situacionais (que dependem da situação de interação), geográficas e cronológicas.
É possível identificar essas mudanças na existência de diversas variedades do português: a europeia, a brasileira, a moçambicana, a angolana, a guineense, a timorense, entre outras. Em cada uma dessas variedades, ocorrem variações de fala e escrita de acordo com o grupo social a que o falante pertence, sua localidade geográfica, o contexto de interação, entre outros fatores. Essas variações não concorrem com suas variantes, formas linguísticas diversas que representam uma mesma ideia; ao contrário, coexistem em um mesmo contexto e mantêm o significado, o que não compromete o funcionamento do sistema linguístico nem a eficácia da comunicação entre os interlocutores.
5. b) Resposta pessoal. É possível que os estudantes reconheçam que a fala transcrita tem menor prestígio social, uma vez que se trata de uma variante não padrão, estigmatizada.
6. b) Além das formas ocê e cê, características da modalidade falada da língua, há, na escrita, as formas vc e o simples c , utilizadas, principalmente, em suportes que permitem uma comunicação mais informal, como os aplicativos de mensagens e as redes sociais.
5. Os trechos a seguir fazem parte de um estudo que investigou os falares de Pombal, um quilombo localizado na zona rural de Goiás. São falas livres de entrevistados, transcritas de acordo com as diretrizes expostas na seção Estudo do Gênero Textual.
5. a) Resposta pessoal. Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor

I. ( ) Iô/iô nunca mais incontrei cu’ela ... mas eu fiquei saben’ que o/num sei se foi o véi Aldo ô foi o véi/o Seixas ... é que correu cu’ês de lá ...
II. nóis tem o maió gosto de/dessa festa sê tão ... (cumprida) ninguém nunca ach“ que num vai tê fim essa festa pur causa que aí vem fii vem neto vem bisneto ... é ... antão ... eu acho que nunca vai tê fim ( ) não.
REZENDE, Tania Ferreira; SOUSA FILHO, Sinval Martins de. Totalização da mudança ADJN > NADJ na fala rural goiana. In: BAGNO, Marcos; CASSEB-GALVÃO, Vânia; REZENDE, Tânia Ferreira (org.). Dinâmicas funcionais da mudança linguística . São Paulo: Parábola, 2017. p. 83-84.
a) No trecho, as palavras não estão grafadas de acordo com as regras ortográficas. Elabore uma hipótese que explique essa escolha de grafia, considerando o contexto de produção.
b) Em seu ponto de vista, essa forma de falar tem menos ou mais prestígio social? Justifique.
As variantes linguísticas, como já abordado, são as diversas formas de manifestação da variação em uma língua. Quando são condizentes com os manuais de norma-padrão e, portanto, acessíveis a pessoas escolarizadas, são consideradas variantes padrão. Elas evidenciam o prestígio social das classes mais escolarizadas e são recorrentemente utilizadas como instrumento de poder, autoridade e subjugo pelos falantes que a dominam.
Quando se desviam da norma-padrão, essas variantes são chamadas de não padrão e acabam sendo desprestigiadas por muitos falantes da língua. Esse desprestígio também ocorre com as chamadas variantes estigmatizadas, que são os modos de falar que identificam pessoas da zona rural, das periferias ou pouco escolarizadas.
Existem, ainda, as chamadas variantes inovadoras, que também sofrem estigma social pela sociedade letrada, porque se afastam dos manuais de norma-padrão. No entanto, essas variantes são correntemente utilizadas por todos os falantes, visto que já estão em concorrência com a norma.
6. Analise a figura a seguir, que representa uma mudança linguística.
Colonização portuguesa
a) Conforme indica a imagem, de que modo ocorreu a mudança da expressão?
Brasil atual
b) Que outras formas já existem no português brasileiro para representar essa mesma palavra?
c) E xiste desprestígio no uso da forma você atualmente? Considerando sua resposta, explique se é possível afirmar se sempre foi esse o sentimento em relação às mudanças linguísticas.
d) Discuta com os colegas: as formas e os usos linguísticos que hoje são considerados “erros” podem ser, futuramente, uma variante inovadora na língua?
Variação cronológica ou diacrônica
6. a) A mudança se deu no decorrer do tempo, em que o antigo pronome de tratamento Vossa Mercê sofreu reduções e aglutinações até chegar à forma atual, você
O termo diacrônico vem do grego dia (“através de”) e chronos (“tempo”), o que evidencia uma mudança nas formas linguísticas que ocorre através do tempo.
6. c) Não existe, pois é uma forma consolidada na língua, até em contextos formais. É provável que a palavra tenha sofrido preconceito e estigma ao longo de seu processo de variação, como ocorre com qualquer mudança na língua até ser aceita socialmente.
6. d) Resposta pessoal. Espera-se que, ao longo da discussão, os estudantes reconheçam que sim, pois formas inovadoras passam por estigmas até serem aceitas socialmente.
7. a) Um homem mais velho e com vestimenta formal, com desenho bem definido e colorido na imagem, fala a um público com propriedade, o que pode ser depreendido de seus olhos fechados e postura alongada, apontando gráficos. O público é monocromático em azul claro, sem definições claras de contorno, e estão todos de costas para o leitor, com a exceção de um deles que parece olhar sorrindo para o colega do lado. Essa configuração sugere interpretações tais como o público não ser importante ao palestrante, que usa
7. Leia a charge a seguir.

7. b) Porque ele usou muitas palavras desconhecidas ao público em geral, construídas de modo a refletir um comportamento linguístico típico de um grupo social, nesse caso, determinadas empresas.

7. c) Respostas pessoais. Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor jargões para se expressar e sequer olha para o público.
Variação de grupo social ou diastrática
a) Considerando a linguagem verbal e a não verbal, como se constrói o sentido da charge?
b) Elabore uma hipótese para explicar por que a fala do palestrante precisou ser traduzida na charge.
c) N o lugar dos funcionários, você teria compreendido a fala do palestrante? Explique como seria possível reagir a essa comunicação, considerando o contexto empresarial.
ORLANDO. [Nosso capital de conhecimento]. Adur. [S. l., 2017]. Disponível em: https:// www.adur-rj.org.br/5com/pop-up/torturar _a_lingua.htm. Acesso em: 11 out. 2024.
O termo diastrático vem do grego dia (“através de”) e stratum (“camada [social]”, “status ”), o que indica que essa variação se refere a diferentes formas linguísticas utilizadas por diferentes grupos sociais, como as gírias e os jargões profissionais.
8. Leia esta postagem de uma rede social e, na sequência, algumas respostas postadas por usuários dessa rede, acompanhadas do seu local de origem.





EU SOU DESSA ÉPOCA. [Qual é o nome dessas coisas na sua cidade?]. [S l.], 7 jul. 2024. Instagram: eusoudessaepoca. Disponível em: https://www.instagram.com/p/ C9JJqieO1OD/. Acesso em 17 set. 2024.
I. Jerimum ou popularmente jirimum, Tê, presilha e baladeira (Barbalha/CE)
II. Moranga, T, Piranha, Funda (Porto Alegre/RS)
III. Também sou do RS e já ouvi de 3 formas: estilingue, funda e bodoque. Acho que depende da região mesmo, em POA [Porto Alegre] é mais estilingue, funda eu ouço bastante do povo da fronteira
IV. Jerimum, T, ataca de cabelo, badoque (Recife/PE)
V. Abóbora, benjamim, piranha e estilingue (Sorocaba/SP)
Copie, no caderno, as afirmações corretas sobre a interpretação da postagem.
a) As variantes utilizadas para representar cada um dos objetos são prestigiadas nas localidades em que se realizam, pois conferem identidade a cada um desses falares.
b) As variantes que representam cada um dos objetos mostram diferenças regionais de registro, o que evidencia a diversidade linguística do país.
8. Estão corretas as afirmações a e b. Em relação ao item c , explique aos estudantes que variações não podem ser consideradas erradas, porque são formas de representação diversas para um mesmo objeto na língua. Em relação ao item d, o usuário não desprestigia as formas, apenas faz um adendo de que não tinha ouvido falar de determinada forma em sua localidade, mas sim na região fronteiriça.
c) Algumas das variantes que representam cada objeto em diferentes localidades não podem ser consideradas como corretas segundo a norma-padrão da língua.
d) No comentário do item III, fica evidente o desprestígio do usuário a outra forma de representação do objeto que não seja aquela que ele considera adequada.
Variação geográfica ou diatópica
O termo diatópico vem do grego dia (“através de”) e topos (“lugar”); logo, esse tipo de variação se refere a diferentes formas linguísticas realizadas de acordo com a região ou a localidade do falante, para representar um mesmo significado.

9. a) Figurado, pois não se trata da fuga do eu lírico, mas da fuga de seus antepassados. O uso dessa expressão remeteria, portanto, às raízes negras do eu lírico.
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor.
9. Releia o seguinte trecho da música “A coisa tá preta”, de Rincon Sapiência.
Só porque fugimos da senzala
Querem dizer que nóis é mó mala
a) O sentido usado pelo eu lírico para a expressão “fugimos da senzala” é literal ou figurado?
Explique.
b) Que tipo de variação linguística pode ser identificada nesses versos?
Variação diastrática (grupo social).
c) Compare as expressões do quadro a seguir, que indica a conjugação do verbo ser em relação ao pronome pessoal a que se refere. Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
Nóis é mó mala.
A gente somos mó mala.
Há um desvio normativo nas duas formas, no entanto é possível explicar a lógica de reflexão do falante que emprega essas conjugações. Elabore uma hipótese para explicá-la.
d) Essas expressões apresentam prestígio ou estigma social? Explique demonstrando por que elas são utilizadas em uma letra de rap.
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor.
Todos os falantes nativos de uma língua possuem uma gramática intuitiva que os permite estabelecer relações lógicas sobre o funcionamento do sistema linguístico. Os desvios normativos, portanto, ocorrem de acordo com possibilidades que a própria língua fornece.
A lógica de pensamento de “nóis é” e “a gente somos” evidencia um fenômeno conhecido como hipercorreção, que representa a tentativa de alguns falantes utilizarem formas prestigiadas da língua – no caso do exemplo, a conjugação verbal normativamente correta.
Ocorre que os falantes geralmente mais escolarizados estigmatizam essas tentativas e julgam os falantes ou os grupos e comunidades inteiras que eles compõem. Tais julgamentos servem para subjugar sujeitos já marginalizados e invisibilizados, colocando em uma condição de superioridade os falantes de variedades de prestígio. Trata-se, enfim, de preconceito linguístico, que deve ser combatido com conhecimento sobre as variações da língua.

1. A afirmação correta é a II. Comente com os estudantes que ocorre nessas palavras um fenômeno linguístico chamado rotacismo, que é a tendência natural para trocar o L pelo R nos encontros consonantais, devido ao fato de os pontos de articulação do R no sistema fonador serem menos complexos do que o do L. Soma-se a isso o fato de que algumas dessas palavras, em sua origem no latim, eram escritas com R, como é o caso de frauta, mas que, com o passar do tempo, elas se consolidaram com L na variedade brasileira do português.
1. Os trechos a seguir fazem parte do poema épico Os Lusíadas, escrito no século XVI pelo poeta português Luís Vaz de Camões. Leia-os e, em seguida, copie a afirmação correta no caderno.
I. “E não de agreste avena ou frauta ruda” (canto I, estrofe 5).
II. “Doenças , frechas e trovões ardentes” (canto X, estrofe 46).
CAMÕES, Luís de. Os Lusíadas. [São Paulo]: O Estado de S. Paulo: Klick, [1999]. p. 270-272. (Coleção Vestibular).
I. As palavras em destaque devem ser consideradas erradas segundo a norma-padrão e demonstram que Camões tinha pouca escolarização, o que era comum no século XVI. Trata-se, portanto, de uma variação diastrática na forma.
II. A s palavras em destaque devem ser analisadas em seu contexto de uso para que se possa compreender o fenômeno de troca do L pelo R. Por se tratar de um texto escrito no século XVI, é possível que tenha havido variação diacrônica na forma.
2. Leia o verbete a seguir.
NHE-NHE-NHEM
Tupi nheeng ‘falar’?
Chamamos de NHE-NHE-NHEM a fala insistente, irritante, a “conversa mole” ou “conversa fiada” que se repete, muitas vezes para não dizer nada. Pois essa palavra se origina, ao que parece, do verbo tupi nheeng, que significa ‘falar’. Dele também deriva nheenga, ‘palavra, fala, discurso’.
Durante muito tempo, existiu na Amazônia uma língua usada não só pelos índios, mas também pelos caboclos e por gente branca. Ela tinha por base o tupinambá. Essa língua foi chamada nheengatu , de nheenga (‘fala’) e katú (‘bom; bonito’), ou seja, a língua boa, a língua bonita. Hoje em dia, ela ainda tem seus falantes na região do rio Negro, no extremo norte da Amazônia, compreendendo áreas do Brasil, da Colômbia e do Peru. No município amazonense de São Gabriel da Cachoeira, o nheengatu é uma das línguas oficiais, ao lado do português, junto com as línguas tucano e baníua. O reconhecimento dessas línguas é uma conquista importante, já que 74% da população do município é formada por indígenas.
BAGNO, Marcos; CARVALHO, Orlene Lúcia de Sabóia. Pororoca, pipoca, paca e outras palavras do tupi. São Paulo: Parábola, 2014. p. 87-88.
a) E xplique como foi feita a associação entre o significado da expressão nhe-nhe-nhem na língua indígena e o seu significado atual.
b) Q ue tipo de variação ocorreu no processo de formação da expressão nhe-nhe-nhem?
2. a) A expressão deriva do tupi nheeng, que significa “falar”. Ao longo do tempo, o seu uso por indígenas e não indígenas reduziu a expressão e atribuiu a ela o sentido de “falar exageradamente”. 2. b) Variação diacrônica, isto é, que acontece ao longo do tempo.
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor.
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor
1. a) O uso do recurso de repetição ocorre em “Que haja […] para todos” e, no último parágrafo, na repetição da palavra nunca. O efeito de sentido nos dois casos é de ênfase, que cria um ritmo e intensifica o impacto do discurso. 1. b) Resposta pessoal. Incentive os estudantes a pensar em palavras ou frases que possam ser repetidas no discurso que produzirem. Lembre-os de que as repetições podem ser aplicadas em diferentes lugares do período e que a intenção é criar ritmo e intensificar o impacto do discurso.
A produção desta Oficina de Texto envolve uma atividade de conjectura. Imagine que você irá tomar posse de um cargo público, o de Ministro de Estado do Brasil. Você deverá produzir um discurso de posse que será compartilhado com a turma.

Gênero
Discurso de posse
Interlocutores
Colegas de turma
Propósito/finalidade
Apresentar propostas, defendendo ideias e valores.
Publicação e circulação
Apresentação em púlpito improvisado na sala de aula.
1. Para dar início à reflexão acerca da produção, leia, a seguir, o discurso de posse proferido por Nelson Mandela (1918-2013) no dia 10 de maio de 1994, quando foi eleito o primeiro presidente negro da África do Sul.
Sabemos muito bem que nenhum de nós pode ser bem-sucedido agindo sozinho.
Portanto, temos que agir em conjunto, como um povo unido, pela reconciliação nacional, pela construção da nação, pelo nascimento de um novo mundo.
Que haja justiça para todos.
Que haja paz para todos.
Que haja trabalho, pão, água e sal para todos.
Que cada um de nós saiba que o seu corpo, a sua mente e a sua alma foram libertados para se realizarem.

■ O ativista ao tomar posse, no dia 10 de maio de 1994 | Foto de arquivo/AFP
Nunca, nunca e nunca mais voltará esta maravilhosa terra a experimentar a opressão de uns sobre os outros, e nem sofrer a indignidade de ser a escória do mundo.
‘UMA nação arco-íris’: O poderoso discurso de Nelson Mandela ao tomar posse na África do Sul, há 25 anos. O Globo, [s l.], 10 maio 2019. Disponível em: https://blogs.oglobo.globo.com/blog-do-acervo/post/chegou-o-momento-de -construir-o-poderoso-discurso-de-nelson-mandela-ao-tomar-posse-na-africa-do-sul-ha-25-anos.html. Acesso em: 19 ago. 2024.
a) No trecho do discurso de Nelson Mandela, o uso do recurso de estilo da repetição ocorre em dois momentos. Indique cada um desses casos e explique o efeito de sentido criado pelos dois.
b) Que ideia você gostaria de enfatizar em seu discurso? Você acredita que pode enfatizá-la utilizando o recurso de estilo da repetição, observado nos três discursos estudados no capítulo?
1. Para dar início ao planejamento da produção do discurso, é necessário responder a uma questão muito importante: em sua conjectura, qual Ministério você gostaria de assumir? Por quê?

• Faça uma pesquisa para auxiliar a sua escolha. Você pode acessar a página de órgãos do governo, no site Gov.br.
• Além de buscar informações sobre o Ministério que deseja assumir, é igualmente importante refletir sobre as razões para essa escolha. Procure organizar uma roda de conversa com os colegas da turma na qual seja possível mapear os desafios que encontram na atualidade e pensar em como poderiam atuar em diferentes frentes governamentais para minimizá-los.
2. Com o Ministério escolhido, é o momento de planejar a escrita do discurso de posse, pensando primeiramente nos interlocutores desse texto. Para isso, reflita sobre as questões a seguir.
• Quem é o público que você representa e de que maneira pode se endereçar a ele?
• Qual é o público que você pretende conquistar e de que maneira pode se endereçar a ele?
3. Em seguida, procure pensar na mensagem central que pretende compartilhar com o público e de que maneira ela pode ser enfatizada em seu discurso.
4. Em seguida, escolha que opiniões ou teses deseja defender. Procure listar ao menos duas, pensando nos argumentos e nas estratégias que serão utilizados para sustentá-las.
5. Planeje o desenvolvimento do discurso, organizando o encadeamento das teses e dos argumentos assim como as outras informações que pretende apresentar.
6. Procure incluir o agradecimento a pessoas da sua vida privada que considera importantes em sua trajetória assim como à equipe que o acompanhará no cargo imaginado.
7. Na conclusão, não deixe de retomar a mensagem central de seu discurso e de firmar os compromissos que assume em seu novo cargo.
8. Lembre-se de que o discurso de posse deve seguir a modalidade formal da língua, ainda que apresente muitas marcas de oralidade e diálogo com o público.
9. Após a primeira escrita do discurso, procure se unir a um colega para fazer a leitura em voz alta, prestando a devida atenção aos elementos relacionados à fala (por exemplo, modulação de voz, entonação, ritmo, altura e intensidade, respiração) assim como à cinestesia – postura corporal, movimentos e gestualidade significativa, expressão facial, contato de olho com plateia etc. A depender das sugestões do colega, faça as devidas alterações no texto.
recriar
1. Leia as perguntas a seguir e utilize-as como roteiro para avaliação e reedição do discurso de posse.
• O público se sente contemplado no discurso?
• O presidente da República e as outras pessoas de interesse são devidamente agradecidas?
• A mensagem central do discurso está clara?
• Os argumentos e as estratégias argumentativas utilizadas são eficientes para convencer o público?
• Recursos de estilo foram utilizados a fim de criar ritmo e impacto no texto do discurso?
• A leitura do discurso considera o cuidado aos elementos relacionados à cinestesia? As sugestões do colega que assistiu à primeira leitura foram consideradas?
2. Após verificar esses itens, faça as alterações necessárias no discurso de posse.
Reserve um dia com o professor para que todos os estudantes da turma possam fazer a apresentação do discurso. Se julgarem interessante, também podem selecionar roupas formais para vestir no dia da apresentação.

Neste capítulo, os estudos do campo artístico-literário enfocaram a formalização da estrutura do conto e o estudo do conceito de escrevivência com base em “Os pés do dançarino”, de Conceição Evaristo, bem como na compreensão da relação entre rap e literatura. Nos estudos de gênero textual, o enfoque foi a análise e produção do gênero textual discurso de posse, com abordagem também das características da oralidade presentes no contexto de produção do texto escolhido. Os estudos da língua, por sua vez, exploraram o conceito de variação linguística e as figuras sonoras tanto nos textos lidos no capítulo quanto em textos de outros gêneros e campos de atuação.
Agora, você deverá sintetizar essas aprendizagens. Para tanto, procure responder com suas palavras às questões a seguir. Se necessário, releia alguns dos conceitos para que seja possível elaborar sua resposta.
1. Recupere os elementos da narrativa estudados por você no decorrer do capítulo e elabore um mapa mental sintetizando seu aprendizado.
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
2. Elabore um parágrafo que associe rap e literatura ao conceito de escrevivência.
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
3. Neste capítulo, você estudou sete diferentes estratégias argumentativas. Cite-as explicando os mecanismos de cada uma delas.
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor.
4. Escreva uma síntese sobre o gênero textual discurso de posse, reunindo as principais informações a respeito dele apresentadas no capítulo.
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
5. Escreva um parágrafo sobre o que é variação linguística e seus termos associados, como variedade, variante e preconceito linguístico.
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor.
6. Explique os efeitos de sentido produzidos pelas figuras sonoras de linguagem.
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor.
Possibilite aos estudantes momentos de silêncio e introspecção para que possam relembrar seu desempenho nas propostas do capítulo. Com base em sua observação dos estudantes e das particularidades de cada um, ajude-os a construir, na coluna de observações, estratégias para avançar em pontos necessários.
Além da compreensão do conteúdo, é importante refletir sobre seu desempenho e aprendizagem ao longo do estudo do capítulo. Para isso, no caderno, reproduza o quadro a seguir e responda às questões. Em seguida, converse com os colegas e o professor sobre formas de aprimoramento de sua aprendizagem e anote-as na coluna de observações.
Ao longo do estudo do capítulo, percebo que...
… fiz as atividades buscando ampliar meus conhecimentos.
… fui proativo na etapa de produção textual.
… busquei analisar textos com empenho, observando contextos e realizando leituras atentas.
Fui proficiente



Preciso aprimorar



Observações



Neste capítulo, o enfoque da análise de questão de provas de ingresso é a seção Estudo Literário. Leia com atenção as dicas de interpretação do formato da questão e, em seguida, treine outra de mesmo formato.
1. (UEL-PR) Leia os textos a seguir:

[...] a nossa escrevivência [escrita das mulheres negras] não pode ser lida como histórias para “ninar os da casa-grande” e sim para incomodá-los em seus sonos injustos.
(EVARISTO, C. Da grafia-desenho de minha mãe, um dos lugares de nascimento de minha escrita. In ALEXANDRE, M. A. (Org.) Representações performáticas brasileiras: teorias, práticas e suas interfaces. Belo Horizonte: Maza Edições, 2007. p. 21.)
Descobria também que não bastava saber ler e assinar o nome. Da leitura era preciso tirar outra sabedoria. Era preciso autorizar o texto da própria vida, assim como era preciso ajudar a construir a história dos seus. E que era preciso continuar decifrando nos vestígios do tempo os sentidos de tudo que ficara para trás. E perceber que, por baixo da assinatura do próprio punho, outras letras e marcas havia.
(EVARISTO, C. Ponciá Vicêncio. Belo Horizonte: Maza Edições, 2003. p. 127.)
A partir das considerações dos dois textos, é correto afirmar:
a) Enquanto a escritora valoriza a dimensão política da narrativa, a personagem preocupa-se com a escrita de sua biografia.
b) Ao referir-se aos “da casa-grande”, a autora limita a oposição negros versus brancos a uma dimensão espacial.
c) A escrita é uma forma de resgatar a memória e reescrever a história dos negros, agora não mais da perspectiva dos dominantes.
d) A “assinatura do próprio punho” não constitui a escrevivência dos negros, mas é suficiente para o registro histórico da escravidão e autoriza a escrita de biografias.
e) É importante ao negro saber ler e assinar o nome para ter acesso à história oficial e contestar os sonos injustos dos brancos.
1. Resposta: alternativa c
A alternativa c reflete com precisão as ideias centrais de ambos os textos. A escrita é vista como um meio de resistência e de construção de uma narrativa própria, contrária à visão dos dominantes.
Antes de analisar as alternativas, é essencial entender o contexto da “escrevivência” e da luta contra a desigualdade racial no Brasil, mobilizando seus conhecimentos prévios. Também é importante observar a função de determinados termos históricos, como casa-grande, para a construção da ideia de desigualdade.
Para identificar a ideia principal de cada texto, é possível selecionar palavras-chave. Para isso, identifique a ideia central de cada trecho e busque termos que sintetizem essa ideia.
O enunciado pede uma afirmação correta com base nas considerações dos dois textos apresentados. Isso significa que você deve identificar a ideia principal de cada texto e relacioná-las.
Ao ler as alternativas, procure compará-las com as ideias extraídas dos textos, buscando identificar qual melhor reflete tais ideias.

Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor
Você já considerou como o fenômeno das fake news ganhou força recentemente?
A propagação de fake news – “notícias falsas”, em português – tem sido um dos maiores obstáculos a serem enfrentados atualmente. Diferentes ações de combate à propagação dessas notícias têm ganhado destaque, principalmente o trabalho das agências de checagem de informação. Essas instituições desempenham um papel muito importante na sociedade contemporânea – especialmente no contexto digital, em que há circulação mais acelerada de informações.
As agências de checagem trabalham para confirmar a veracidade de informações. Ao estabelecerem parâmetros para uma análise rigorosa dos fatos, elas ajudam a combater a disseminação de notícias falsas e a restabelecer a confiança na mídia.
Neste projeto, você e seus colegas vão criar uma agência de checagem de notícias, a fim de orientar a comunidade local no combate à disseminação de fake news
Produto
Agência de checagem de notícias
escolar Público-alvo
Para começar, leia os textos a seguir.
1
sociais ou blogue da turma e mural físico na escola
Período de realização
Ano letivo
Em 1933, a gerente do hotel Aldie Mackay entrou em um bar e, para a surpresa dos frequentadores, anunciou que havia acabado de ver um “monstro” no lago Ness e que a água do lago estava muito agitada. O jornal regional escocês Inverness Courier, agradecido pela curiosa história da misteriosa criatura, fez uma reportagem que espalhou a lenda rapidamente.
Vários repórteres viajaram de Londres, e um circo chegou a oferecer 20 mil libras para capturar o monstro. Pouco tempo depois, um motociclista descreveu como a criatura atravessou a estrada à sua frente. Relatou que ela se movia para frente com nadadeiras e carregava uma ovelha em sua boca. Assim que chegou ao lago, ela submergiu. Desde então, não deu mais para parar a “Nessiemania”.
CORDS, Suzanne. Maior busca de todos os tempos: escoceses procuram monstro do lago Ness. UOL , [s l.], 31 maio 2024. Disponível em: https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/deutschewelle/2024/05/31/ maior-busca-de-todos-os-tempos-escoceses-procuram-monstro-do-lago-ness.htm. Acesso em: 6 set. 2024.
TEXTO 2
Em 1934, foi tirada uma fotografia que, alegadamente, retratava o monstro do Lago Ness e que desencadeou a “Nessiemania” ao ser publicada em jornais de todo o mundo. Mais tarde, o neto de
1. a) A gerente de um hotel da região do lago Ness entrou em um bar na Escócia e disse às pessoas que havia visto um monstro e que as águas do lago estavam agitadas.
Marmaduke Wetherell, um dos homens que, supostamente, vira Nessie, revelou que a fotografia era falsa e que fora criada colocando uma serpente a fingir em cima de um submarino de brincar. Mas a imagem já correra mundo e, ainda hoje, muitos ainda procuram o monstro do Lago Ness.

G. M., Abel. 20 mitos e mistificações que marcaram a história. National Geographic Portugal, [Lisboa], 30 nov. 2023. Disponível em: https://www.nationalgeographic.pt/historia/ 20-mitos-fake-news-historia_4485. Acesso em: 6 set. 2024.

■ Fotografia do que seria o monstro do Lago Ness.
1. Com base na leitura dos dois textos, responda às questões a seguir.
a) Qual foi o fato que propiciou a criação da lenda segundo o Texto 1?
b) De que modo a história ganhou força e se espalhou?
c) E xplique como a fotografia apresentada no Texto 2 corrobora a lenda.
1. b) O jornal escocês Inverness Courier ajudou a espalhar a história fazendo uma reportagem sobre a curiosa criatura.
d) Em seu ponto de vista, nos dias de hoje, os jornais publicariam um acontecimento com base em uma história criada por um morador local? Justifique sua resposta.
O caso do monstro do lago Ness é um exemplo de como a mentira pode ganhar as páginas de jornais e revistas. Atualmente, as notícias falsas circulam com maior rapidez em razão do desenvolvimento das tecnologias e do maior número de pessoas com acesso à internet.
2. Leia os textos para responder às questões a seguir.
1. c) A imagem apresenta algo escuro e disforme que pode ser associado a um monstro no imaginário de quem a vê e conhece a lenda.
1. d) Respostas pessoais. Espera-se que os estudantes reconheçam que, hoje em dia, a apuração de fatos é uma etapa importante do trabalho jornalístico. Dessa forma, não seria possível reproduzir uma história sem averiguá-la ou coletar outros depoimentos que pudessem corroborá-la.
[…] Deepfake é uma técnica que permite alterar um vídeo ou foto com ajuda de inteligência artificial (IA). Com ele, por exemplo, o rosto da pessoa que está em cena pode ser trocado pelo de outra; ou aquilo que a pessoa fala pode ser modificado.
O QUE é deepfake e como ele é usado para distorcer realidade. G1, [s. l.], 28 fev. 2024. Disponível em: https://g1.globo.com/ tecnologia/noticia/2024/02/28/o-que-e-deepfake-e-como-ele-e-usado-para-distorcer-realidade.ghtml. Acesso em: 7 set. 2024.
2

GALHARDO, Caco. [Bicudinho]. Folha de S.Paulo, São Paulo, 26 ago. 2024. Disponível em: https://cartum.folha.uol.com.br/quadrinhos/2024/08/26/bicudinho-caco-galhardo.shtml. Acesso em: 7 set. 2024.
Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor
a) Considerando seus conhecimentos sobre o que são fake news e a definição apresentada no Texto 1, explique a relação entre esse fenômeno e a deepfake
b) Como a deepfake é representada no cartum?
c) Explique a crítica veiculada pelo cartum considerando também a definição apresentada no Texto 1.
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor
Cineclube sobre fake news: criação e execução

Após essas reflexões, é hora de conhecer com mais profundidade as características das fake news e buscar recursos e estratégias para combater sua disseminação. A investigação será realizada em uma agência de verificação de notícias, a ser criada por você e pelos colegas, e terá como propósito orientar a comunidade escolar a evitar a propagação de notícias falsas.
Antes, você aprofundará seus conhecimentos sobre as fake news, para compreender como esse fenômeno ganhou força na atualidade e quais são suas principais características. Para isso, a turma deverá organizar um cineclube sobre esse tema. Cineclube é uma reunião de pessoas que assistem a filmes e promovem debates e reflexões sobre eles. É uma oportunidade de troca e aprendizado, em que os participantes discutem sobre o filme com base em seus pontos de vista e compartilham conhecimentos.
A turma deverá selecionar pelo menos dois filmes sobre o tema para que todos assistam juntos e, em seguida, conversem sobre eles.
Primeira etapa – Organização do Cineclube
A turma deve ler todas as orientações apresentadas a seguir e se dividir para a realização das tarefas.
1. Agende a reserva de um espaço (biblioteca, auditório, teatro etc.) para exibição dos filmes e verifique a disponibilidade da infraestrutura necessária (TV, telão, aparelhos para reproduzir o filme e áudio acessível para todos, entre outros itens).
2. Convide professores para participarem do cineclube, pedindo a eles que auxiliem na seleção dos filmes que estejam alinhados à temática.
3. Combine com o professor e com a turma dia e hora para exibição dos filmes.
4. No dia do evento, organize o espaço escolhido para receber a turma; depois da atividade, devolva-o limpo e ordenado.
Segunda etapa – Curadoria e seleção de filmes
Você e os colegas de turma devem pesquisar filmes de ficção e/ou documentários com o tema “fake news”. Para isso, busque em blogues com dicas de filmes, sites especializados ou revistas de cinema e leiam as sinopses dos títulos, a fim de verificar a adequação com a temática.
• Cada estudante deve selecionar um filme que chame sua atenção e anotar título, sinopse e ano de lançamento. É importante preparar um resumo que deverá ser apresentado para toda a turma no momento de seleção dos filmes para o cineclube.
• Reúna-se com os colegas de turma e com os professores convidados e apresente sua escolha.
• Organize uma votação para escolher os filmes que serão exibidos.
• Com os filmes selecionados, organize um calendário de exibição para que os mediadores possam se preparar para conduzir as discussões na data combinada.
Se houver tempo hábil, possibilite o espaço de meia aula para os estudantes realizarem essas pesquisas de forma on-line, caso haja infraestrutura disponível. Na segunda metade da aula, permita que troquem ideias e garanta que eles se preparem para apresentar os filmes escolhidos. Esse processo possibilita a troca de dicas de filmes e a ampliação do repertório cultural dos estudantes.
A etapa de preparação é importante para o cineclube ganhar ainda mais relevância em relação ao compartilhamento de conhecimentos sobre o tema. Por isso, se for possível, organize espaço para que os estudantes façam esse preparo na escola, usando salas de informática ou biblioteca. Assim, será possível garantir maior participação dos estudantes.
Terceira etapa – Preparação para o cineclube
• Após a seleção dos filmes e a definição da data de exibição, será necessário reservar um período para que todos possam realizar as pesquisas sobre as produções escolhidas.
• Cada estudante deverá aprofundar a pesquisa sobre o filme que será exibido: identificar como as fake news são retratadas na obra; apontar como a crítica especializada avalia o filme; e destacar os objetivos de sua produção. Liste o máximo de informações e leve-as no dia da exibição do filme. Esse material será importante para subsidiar a discussão no cineclube.

É importante que sejam criadas regras para orientar a discussão após a exibição do filme, pois elas garantem que todos falem e compartilhem os resultados de suas pesquisas.
Antes da exibição dos filmes, você ou um colega pode fazer uma breve apresentação do objetivo do cineclube e destacar como os filmes escolhidos se relacionam à temática das fake news. Cuide para não dar spoilers!
Oriente os estudantes a destacar pontos interessantes sobre o filme e a indagar a plateia sobre expectativas que tenham com o filme com base na sinopse e no título.
Durante a exibição do filme, anote as dúvidas que considerar importantes para compartilhar com a turma. Anote também pontos de destaque do filme, que contemplem questões como estas: como a fake news do filme surgiu? Como ela se propagou? Quais foram as consequências?
Após a exibição do filme, em uma roda de conversa, apresente suas contribuições para a discussão. Nesse momento, devem ser compartilhados os resultados das pesquisas realizadas e os questionamentos suscitados pelo filme.
Durante a discussão, faça anotações no caderno e registre pontos de vista que ampliem sua visão de mundo sobre o assunto. Assim, essas notas poderão ser resgatadas no momento da criação da agência de checagem e sempre que necessário.
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor.
Agora que todos ampliaram conhecimentos sobre as fake news de forma prática, é hora de começar a criar a agência de checagem de notícias. Leia todas as etapas propostas a seguir, para compreender o funcionamento do projeto e se organizar para realizar as etapas em grupos.
Primeira etapa – Aprofundar os conhecimentos teóricos sobre o tema
Este é o momento de ampliar os conhecimentos sobre o assunto, de modo que se possa ter clareza da importância do trabalho desenvolvido por uma agência de checagem de notícias. O aprofundamento teórico se dará por meio da leitura coletiva de um infográfico; em seguida, com base na divisão em grupos que se manterão até o final do projeto, você e os colegas procederão a pesquisas que resultarão em apresentações orais.
O objetivo desta etapa é conhecer mais as características das fake news e alcançar um domínio maior sobre os mecanismos de identificação desse tipo de informação e seu contexto atual.
1. Leia, a seguir, um infográfico sobre os tipos de fake news. Converse com os colegas sobre as interpretações possíveis e busque exemplos de seu cotidiano em que seja possível reconhecer fake news com tais características.
2. Depois da leitura, a turma irá se dividir em sete grupos.

3. Cada grupo será responsável por pesquisar características e exemplos de um dos tipos de fake news apresentado no infográfico. Busque informações em sites oficiais do setor público, de agências jornalísticas reconhecidas ou de ONGs.
4. Nos grupos, é importante que alguns integrantes fiquem responsáveis pela busca das informações, enquanto outros, por anotar as informações relevantes dos textos. É preciso definir também quem será responsável por comparar as abordagens e verificar quais são mais detalhadas e relevantes. Anote e armazene as informações que o grupo considerar importantes e que possam contribuir para a elaboração da apresentação oral à turma, no final desta etapa.
5. Considerando o tipo de fake news atribuída ao grupo, busque também informações sobre o porquê de ela ter ficado mais forte no período atual, se for o caso. Procure exemplos que ilustram esse tipo de fake news e analise suas causas e consequências.
6. Após a pesquisa, reúna-se novamente com toda a turma e compartilhe as informações levantadas por meio de uma apresentação oral. Cada grupo deverá apresentar seus resultados em cinco minutos. Se for possível, montem uma apresentação com suporte visual em slides para que a turma possa visualizar melhor os exemplos e anotar informações com mais calma e critério.
7. Durante a apresentação dos colegas, anote informações que julgar relevantes sobre os outros tipos de fake news, pois essas informações serão importantes para sua atuação na agência de checagem.

Fonte: HANZEN, Elstor. Projetos buscam ajudar o público idoso a combater a desinformação. Jornal da Universidade, Porto Alegre, 20 out. 2022. Disponível em: www.ufrgs.br/jornal/projetos -buscam-ajudar-o-publico-idoso-a-combater-a-desinformacao/. Acesso em: 25 set. 2024.
Segunda etapa – Definir mecanismos para identificar uma fake news
Nesta etapa, cada grupo ficará responsável por elaborar alguns critérios que serão usados por todos para fazer a checagem de notícias e identificar as fake news. Para isso, os grupos deverão ter como base seis eixos de identificação de notícias falsas.
8. Leia o infográfico a seguir, que apresenta os seis eixos de verificação de notícias: fonte, evidência, contexto, público-alvo, propósito e circulação.

Fonte: fontes confiáveis têm histórico de credibilidade. Sites desconhecidos ou autores sem notoriedade ou propriedade para abordar alguns assuntos podem indicar que se trata de fake news. Passo 1: certificar-se da origem da informação.
Evidência: fake news frequentemente usam dados falsos ou exagerados. É essencial checar a veracidade das informações em sites confiáveis, como os de ONGs, sites governamentais ou amplamente conhecidos. Passo 2: checar fatos e evidências apresentadas.
Contexto: fake news podem distorcer o contexto para alterar o significado original dos fatos. Passo 3: verificar o contexto e todos os dados da notícia.

Público-alvo: fake news são direcionadas a um público específico. Entender a quem se destina a mensagem ajuda a identificar possíveis intenções de manipulação. Passo 4: reconhecer o público-alvo.
Propósito: notícias falsas sempre carregam uma intenção e podem influenciar opiniões, causar pânico ou visar à obtenção de ganhos financeiros. Passo 5: verificar a intenção por trás da notícia.
Circulação: produtores de fake news utilizam as redes sociais e aplicativos de mensagens eletrônicas para disseminar a desinformação. Além disso, esses conteúdos seguem um padrão de apresentação e fazem uso de estilo e linguagem peculiares para atrair a atenção do leitor. Passo 6: atentar aos meios de reprodução e também à forma de apresentação da notícia.
■ Infográfico que explica o passo a passo para a identificação das fake news.

9. Reúna-se com seu grupo, escolha dois dos eixos apresentados anteriormente e defina quatro perguntas que ajudem a identificar uma notícia falsa de acordo com cada eixo. Por exemplo: o grupo responsável pelas perguntas sobre fontes poderá ter a seguinte questão entre suas perguntas: “Quem escreveu esse texto ou quem tirou essa foto?”.
10. Após a elaboração das perguntas, a turma voltará a se reunir para elaborar coletivamente a primeira versão de um checklist com as perguntas para a identificação de fake news com base nos seis eixos. Lembre-se de que o checklist é um instrumento importante para o trabalho de uma agência de verificação de informações.
Terceira etapa – Conhecer o fact-checking
Com base na primeira versão do checklist criado por toda turma, você deverá refinar essa lista com base no conceito de fact-checking, método jornalístico usado para a checagem de informações e dados.
Fact-checking

Método jornalístico utilizado para confirmar a veracidade das informações, especialmente em textos, notícias e declarações públicas. Esse procedimento envolve pesquisa e análise de dados, fontes e evidências para confirmar ou desmentir fatos apresentados. O objetivo do fact-checking é evitar a disseminação de desinformação e garantir que o público tenha acesso a informações corretas e precisas.
11. Com o checklist coletivo em mãos, reúna-se com seu grupo e faça uma pesquisa, em sites, blogues, revistas e outras fontes confiáveis, sobre os critérios estabelecidos por algumas agências de checagem para definir as etapas de seu fact-checking. Como não existe um único método para a checagem, a turma deverá criar seus próprios critérios com base nos resultados dessa pesquisa.
12. Existem muitos tipos de pesquisa. Então, para que seja possível ampliar conhecimentos sobre o assunto usando diferentes metodologias de pesquisa, cada grupo deverá buscar informações sobre os critérios de fact-checking com base em uma das metodologias expostas no quadro a seguir.
Metodologia de pesquisa Explicação
Revisão bibliográfica
Estudo de caso
Entrevista
Pesquisa-ação
Pesquisa participante
Consulta a fontes, como livros, artigos e sites, sobre o objeto em foco.
Análise de um caso modelar sobre o objeto de investigação.
Por meio de perguntas dirigidas, especialistas são consultados sobre o problema em foco.
Por meio de uma reflexão coletiva, possibilita-se a uma comunidade reconhecer problemas e buscar ações para resolvê-los.
Auxilia uma determinada população a reconhecer seus problemas e analisá-los.
Como buscar a informação sobre os critérios do fact-checking
Pesquisar o conceito de fact-checking em sites, blogues, livros da área de Jornalismo, artigos e páginas da internet para identificar formas de checagem de informações falsas.
Pesquisar agências de checagem e identificar como fazem o fact-checking. Buscar exemplos de notícias falsas que foram checadas por agências de notícias e observar os critérios utilizados para essa checagem.
Elaborar questões e tentar agendar uma conversa presencial, virtual ou por e-mail com um jornalista da cidade.
Com base nos conhecimentos construídos até o momento, refletir coletivamente de modo intuitivo para pensar em formas de checagem da notícia.
Apresentar uma notícia verdadeira e uma falsa a algumas pessoas e questioná-las sobre como identificam a veracidade de uma notícia.
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor.
13. Durante a pesquisa de fact-checking, considere as seguintes questões.
a) Qual é o passo a passo mais usado para realizar o fact-checking?
b) Como a agência aplica esse procedimento?
c) De que forma cada etapa de checagem se conecta à outra?
Detalhe as respostas, registre-as ou armazene imagens de como funciona o fact-checking de acordo com a metodologia utilizada pelo seu grupo. Essa pesquisa deverá ser compartilhada com todos os colegas em sala de aula. Neste momento, será preciso revisar a primeira versão do checklist, adicionando as descobertas feitas pelos grupos nas pesquisas, e, se necessário, acrescentar ou alterar perguntas.
14. Com base no novo checklist, elabore um infográfico com o fluxo de checagem que deverá acontecer na agência. Por exemplo: chegada da notícia > análise de dado X > verificação de dado Y etc. Cada item do fluxo deve ter relação com as descobertas feitas pelos grupos sobre os critérios de fact-checking.

15. Antes de iniciar a próxima etapa, é preciso que o checklist esteja finalizado, já que ele será o instrumento da agência de checagem. Portanto, a turma deve entrar em consenso sobre sua finalização. Se necessário, considerem mais etapas de revisão e de melhoria para o material. Também é possível pedir ajuda de professores ou da equipe de coordenação para uma leitura crítica do material criado.
Quarta etapa – Inaugurar e fazer funcionar a agência de checagem
É hora de conhecer um pouco mais a rotina de uma agência de checagem, verificando as atribuições dos colaboradores para entender com mais propriedade quais são as tarefas desenvolvidas no dia a dia da agência. Para isso, os grupos deverão selecionar uma agência para descobrir de que forma está estruturada e como se organiza.
16. Em grupo, escolha uma agência de checagem existente para verificar como ela está estruturada. Será preciso pesquisar informações sobre ela e, se necessário, entrar em contato para saber mais sobre seu funcionamento. Veja, a seguir, alguns questionamentos pertinentes.
a) Quantas pessoas atuam na agência?
b) Quais são as responsabilidades e os papéis de cada colaborador dentro dessa agência?
c) Em quantas etapas se divide o processo de checagem de informações?
17. A seguir, são indicadas seis agências de checagem que podem ser pesquisadas e estudadas em relação ao seu funcionamento. Observe.

■ Agência Aos fatos.

■ Projeto Truco da Agência Pública.

■ Agência Boatos.org.

■ Agência Lupa

■ Agência Uol Confere

■ Agência Fato ou fake.
Quinta etapa – Estabelecer uma rotina para a agência na escola
Antes de criar a agência da turma, é importante reservar um momento para fazer a avaliação do desempenho do grupo neste projeto. Para isso, use as orientações da seção Avaliar e recriar possibilidades e realize tanto a avaliação do desempenho do grupo quanto do desempenho individual, seu e de cada membro da equipe.
Agora, nesta etapa, vocês pensarão sobre como estabelecer uma rotina para a agência de checagem. Além disso, definirão os papéis de atuação na agência e como será o funcionamento dela.

18. A fim de distribuir as tarefas necessárias para o desenvolvimento da rotina da agência, com toda a turma, responda às questões a seguir. Depois, você e os colegas devem anotar as decisões em uma cartolina e fixá-la em local visível na sala de aula, para que todos possam consultar e acompanhar os processos quando necessário.
a) Funcionamento da agência
Funcionamento da agência Como ela funcionará? Na escola e em período extracurricular?
Periodicidade de trabalho Com que periodicidade? Reunião quinzenal?
Tipos de notícia que serão apurados.
Como recebem a sugestão de apuração.
b) Atribuições
Haverá um tema ou perfil de notícia ou reportagem a ser apurado? Que critérios são necessários para escolher esse tema?
Como será a divulgação do serviço da agência de checagem de notícias para a comunidade escolar? Como os interessados poderão solicitar uma apuração? Quem irá selecionar as notícias a serem apuradas? Haverá um canal eletrônico para envio de materiais ou eles chegarão de forma física?
Filtragem das notícias Qual é o grupo que recebe ou seleciona as notícias para verificação?
Verificação 1 Qual grupo é responsável pela primeira verificação?
Verificação 2 Qual grupo fará a segunda verificação?
Devolutiva do resultado Qual grupo é responsável pela devolutiva?
Publicação Qual grupo é responsável pela publicação do material? Onde esse material será publicado?
c) Publicação
Espaço de divulgação Como a apuração irá circular? Como será divulgada?
Impacto social A que servirá esse trabalho para a escola?
19. Com esses itens definidos, determine as tarefas a serem executadas por cada pessoa ou grupo.
20. Crie um calendário de tarefas e responsabilidades e afixe-o em local visível da sala de aula, para que todos possam consultar.
21. Escolha um nome para a agência. Use a criatividade, mas não deixe de vinculá-lo com a ideia de checagem e verificação de informações. Se possível, crie também uma logomarca.
22. Agora é hora de cada pessoa ou grupo assumir a sua função e de a agência de checagem começar a funcionar.
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor
A participação em um projeto requer avaliações constantes para garantir um bom desempenho individual e em grupo. Sugere-se que seja feita a seguinte aplicação das avaliações.
• Em grupo: entre a quarta e a quinta etapa e ao final do projeto, após o subtítulo Vivenciar.
• Minha atuação: ao final de cada etapa do projeto, para avaliar o seu progresso.
• Descobertas e conhecimento: ao final do projeto para consolidar o aprendizado.

Em grupo
Competências em avaliação
Cooperação: os integrantes do grupo cooperaram uns com os outros.
Comunicação: o grupo possibilitou a troca de informações e estudos.
Resolução de problemas: os membros do grupo resolveram conflitos com sucesso.
Competências em avaliação
Colaboração: atuei de forma colaborativa com os colegas do meu grupo e com os colegas de outros grupos.
Comunicação: comuniquei necessidades e pontos de atenção sempre que necessário.
Cooperação: quando necessário, prestei auxílio aos colegas e solicitei a ajuda deles.
Alguns integrantes ficaram com mais tarefas do que outros ou as tarefas tinham níveis de complexidade diferentes.
Alguns integrantes se mostraram mais disponíveis e abertos às trocas do que outros.
Os conflitos ocorreram de forma frequente e não foram solucionados.
Níveis de proficiência
Todos os integrantes tiveram tarefas em quantidade e complexidade equilibradas.
Aconteceram trocas e discussões durante a realização das tarefas.
Os conflitos ocorridos foram contornados sem causar desentendimentos.
Níveis de proficiência
Mesmo com tarefas equilibradas em quantidade e complexidade, o grupo se ajudou sempre que necessário.
Todos os integrantes trocaram informações e conhecimentos ao longo do projeto e conversaram para solucionar problemas.
Os conflitos aconteceram, mas foram solucionados de forma respeitosa.
Não consegui colaborar ou contribuir tanto quanto eu gostaria.
Não me comuniquei da forma como gostaria.
Não soube solicitar ajuda e acabei realizando as tarefas de forma solitária.
Atuei de forma colaborativa, mas gostaria de ter contribuído mais.
Consegui expor pontos de atenção, mas poderia ter me comunicado melhor.
Solicitei e recebi ajuda, mas não consegui prestar auxílio aos meus colegas.
Atuei de forma colaborativa, buscando contribuir sempre com meu grupo.
Consegui me comunicar de forma clara e assertiva.
Solicitei e recebi ajuda e consegui prestar auxílio aos meus colegas.
Descobertas e conhecimentos
Competências em avaliação
Inovação: descobri novos conhecimentos e os conectei a outros conteúdos.

Pesquisa: busquei informações adequadas e segui as etapas com empenho e qualidade.
Aprendizagem: posso afirmar que aprendi o que faz uma agência de checagem e a importância de sua atuação para uma comunidade.
Níveis de proficiência Em desenvolvimento Adequado Avançado
Fiz poucas descobertas e não consegui relacioná-las a outros conhecimentos.
Não consegui localizar informações adequadas e tive dificuldade de atuar com empenho e dedicação.
Compreendi pouco o funcionamento de uma agência de checagem e sua importância para a comunidade.
Fiz descobertas sobre o tema e consegui fazer conexões com outras informações.
Atuei com empenho e dedicação em todas as etapas, mas tive dificuldades em localizar informações.
Compreendi o funcionamento de uma agência de checagem e sua importância para a comunidade.
Pude aprofundar os conhecimentos sobre o tema e consegui fazer conexões com outras informações.
Atuei com empenho e dedicação em todas as etapas e consegui localizar informações adequadas.
Entendi a importância da checagem de notícias e o papel fundamental que as agências de checagem têm no combate à desinformação.
Após cada uma das avaliações, é importante refletir sobre os resultados, considerando-os de forma construtiva e destacando as áreas de aprimoramento. Com base neles, é possível criar um plano de ação que inclua ajustes que garantam maior envolvimento do grupo.
Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor.
23. Nesta etapa, vocês poderão criar espaços para a divulgação das notícias e informações que foram verificadas pela agência. É possível criar redes sociais para publicar as notícias verificadas, interagir com o público e chegar a um número maior de usuários. Sugere-se também criar um mural físico na escola a fim de divulgar o material verificado.
24. Para deixar essa verificação ainda mais atrativa e não perder a dimensão dos tipos de fake news, use a criatividade e crie selos ou marcações visuais que sinalizem o que é um conteúdo manipulado e o que é um conteúdo criado para sugestionar opiniões sobre um determinado tema, situação ou acontecimento.
25. Aumente a interação com os leitores, para possibilitar que a comunidade local também envie materiais e interaja com a agência, mostrando a relevância do trabalho desenvolvido. Observe, a seguir, um cronograma com o objetivo de ajudar a turma no desenvolvimento do projeto.
CRONOGRAMA
Estudar a proposta
Buscar inspiraçãoDividir tarefas e empreender Vivenciar Etapa 1 a 3 Etapa 4 Etapas 1 e 2
Fevereiro Fevereiro / Março
3 e 4 Etapa 5
Abril Maio / Junho Junho / Agosto Agosto / Setembro Outubro / Novembro
ANTUNES, Irandé. Análise de textos: fundamentos e práticas. São Paulo: Parábola, 2020. (Estratégias de ensino, 21).
Nessa obra, a linguista Irandé Antunes parte da conceituação de texto e dos fatores de textualidade, seguindo para os métodos de análise textual global e específica.
ANTUNES, Irandé. Aula de português: encontro & interação. São Paulo: Parábola, 2003. (Série Aula, 1).
Na obra, a autora apresenta novos olhares para o ensino da gramática, da linguagem oral e da escrita partindo de uma análise sobre a ineficiência de alguns métodos tradicionais desse ensino.

BAGNO, Marcos. Gramática pedagógica do português brasileiro. São Paulo: Parábola, 2012. (Referenda, 1).
Em sua gramática, o linguista Marcos Bagno discute os usos da língua e refuta o ensino de uma gramática canônica e purista, para dar lugar ao estudo de fenômenos linguísticos tal como ocorrem de fato no cotidiano, considerando aspectos da variação da língua portuguesa.
BAGNO, Marcos. Preconceito linguístico: o que é, como se faz. São Paulo: Loyola, 2004.
Nessa obra, o autor reflete sobre as raízes do preconceito linguístico e observa como ele se propaga nos contextos letrados, inclusive na escola. Ele também defende o fim dos termos “certo” e “errado” aplicados à comparação entre as variações linguísticas e a gramática tradicional.
BAGNO, Marcos; CARVALHO, Orlene Lúcia de Sabóia. Pororoca, pipoca, paca e outras palavras do tupi. São Paulo: Parábola, 2014. (Poranduba, 1).
O livro apresenta diversos vocábulos originários da língua tupi e incorporados à língua portuguesa brasileira, além de explicar sua significação originária e corrente até os dias atuais.
BAKHTIN, Mikhail. Os gêneros do discurso. In: BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. Tradução: Paulo Bezerra. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 261-306. No capítulo “Os gêneros do discurso”, o russo Mikhail Bakhtin aborda a episteme do conceito de gênero discursivo, que subsidiou as muitas outras investigações sobre a temática.
BARTHES, Roland. Aula. Tradução: Leyla Perrone-Moisés. São Paulo: Cultrix, 1978.
Na transcrição de sua aula inaugural para a cadeira de Semiologia Literária no Collège de France, em 1977, o francês Roland Barthes discorre sobre a relação de poder que existe no próprio sistema linguístico, apontando a literatura como um espaço de reinvenção em que a língua pode ser ouvida fora do lugar de poder.
BENJAMIN, Walter. O narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. In: BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. Tradução: Sergio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1994. p. 197-221. (Obras escolhidas, 1).
O ensaio aborda, de forma reflexiva e crítica, a dificuldade de intercambiar experiências e o fim da figura do narrador oral a partir do surgimento do romance enquanto produção literária da individualidade.
BOSI, Alfredo. Céu, inferno: ensaios de crítica literária e ideológica. 2. ed. São Paulo: Duas Cidades: Editora 34, 2010. (Coleção Espírito Crítico).
O livro apresenta ensaios a respeito de grandes autores da literatura, como Guimarães Rosa, Carlos Drummond de Andrade e Cecília Meireles.
BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira
São Paulo: Cultrix, 2003.
O livro discorre sobre a história da literatura brasileira por meio da discussão histórica e da apresentação dos principais autores de cada movimento literário.
BRONCKART, Jean-Paul. Atividade de linguagem, textos e discursos: por um interacionismo sociodiscursivo. Tradução: Anna Rachel Machado e Péricles Cunha. 2. ed. São Paulo: EDUC, 1999.
Nessa obra, o quadro sociointeracionista proposto por Jean-Paul Bronckart leva a analisar as condutas humanas como ações significantes, cujas propriedades estruturais e funcionais são, antes de tudo, produto da socialização. Com base na análise de 120 exemplos de textos, o autor analisa os caminhos para um interacionismo sociodiscursivo.
BUCK INSTITUTE FOR EDUCATION. Aprendizagem baseada em projetos: guia para professores de Ensino Fundamental e Médio. Tradução: Daniel Bueno. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008.
A obra detalha o trabalho com projetos, desde o planejamento e a elaboração da pergunta de pesquisa, perpassando pelo desenvolvimento das etapas e pontos de checagem, para alcançar o processo avaliativo por meio de rubricas. Está inteiramente voltado a professores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.
CADÓ, Júlio César de Araújo; WELTER, Juliane Vargas. Concerto de feras: a vocalização do devir-animal em A confissão da leoa (2012), de Mia Couto, e O som do rugido da onça (2021), de Micheliny Verunschk. Gragoatá, Niterói, v. 28, n. 61, 2023. Disponível em: https://periodicos.uff.br/ gragoata/article/view/56312. Acesso em: 30 set. 2024.
No artigo, os autores pensam a maneira como a animalidade opera enquanto categoria nos livros O som do rugido da onça e A confissão da leoa
CÂMARA, Yzy Maria Rabelo; CÂMARA, Yls Rabelo. O nacionalismo brasileiro e o indianismo em forma de poema: a exaltação do eu lírico feminino e do amor rechaçado em “Marabá”, de Gonçalves Dias. Entrelaces, Fortaleza, ano 6, n. 7, p. 88-98, jan./jun. 2016. Disponível em: http://www. periodicos.ufc.br/entrelaces/article/view/3589. Acesso em: 30 set. 2024.
Nesse artigo, as autoras refletem criticamente sobre o lugar do feminino em “Marabá”, poema de Gonçalves Dias.
CANDIDO, Antonio. Formação da literatura brasileira: momentos decisivos. Belo Horizonte: Itatiaia, 2000.
O livro apresenta o Arcadismo e o Romantismo como principais épocas da formação da literatura brasileira por meio de análises de cunho literário e sociológico.
CANDIDO, Antonio. Literatura e sociedade. São Paulo: Nacional, 1976.
A obra apresenta estudos críticos de teoria e história literária.
CANDIDO, Antonio. Na sala de aula: caderno de análise literária. São Paulo: Ática, 1989.

O volume apresenta análises de seis poemas brasileiros que subsidiam o trabalho com o gênero em sala de aula.
CANDIDO, Antonio. O direito à literatura. In: CANDIDO, Antonio. Vários escritos. 4. ed. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul; São Paulo: Duas Cidades, 2004. p. 169-191.
O texto defende que a literatura deve ser compreendida como um direito humano, pois a fabulação e o imaginário têm caráter formativo para os sujeitos.
CANDIDO, Antonio. O estudo analítico do poema. 3. ed. São Paulo: Humanitas, 1996.
Na obra, o crítico desenvolve argumentações teóricas acerca dos elementos de um poema: sonoridade, rima, ritmo, metro e verso.
COHEN, Elizabeth G.; LOTAN, Rachel A. Planejando o trabalho em grupo: estratégias para salas de aula heterogêneas. Tradução: Luís Fernando Marques Dorvillé, Mila Molina Carneiro e Paula Márcia Schmaltz Ferreira Rozin. 3. ed. Porto Alegre: Penso, 2017. E-book.
A obra apresenta diversas estratégias para a organização de trabalhos em grupo, sobretudo na sala de aula, e os modos de desenvolver as habilidades dos estudantes referentes a essa prática.
COMPAGNON, Antoine. O demônio da teoria: literatura e senso comum. Tradução: Cleonice Paes Barreto Mourão, Consuelo Fortes Santiago. 2. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2012.
O autor explora as diferentes correntes críticas e teóricas da literatura, inserindo-as em perspectiva e demonstrando o modo como a história da literatura pode ser pensada com base em diversos pontos de vista.
COSTA, Sérgio Roberto. Dicionário de gêneros textuais 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2014.
Nos verbetes desse livro, o autor apresenta uma breve explicação sobre o que são diversos gêneros textuais, abarcando também gêneros híbridos e multimodais.
CUNHA, Celso; CINTRA, Luís Filipe Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 5. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 2009.
Essa gramática tem como abordagem a explicação dos fenômenos linguísticos sob a perspectiva da norma-padrão,
considerando alguns aspectos decorrentes do uso da língua, que, ao longo do tempo, modificam as regras.
DISCINI, Norma. Comunicação nos textos: leitura, produção, exercícios. São Paulo: Contexto, 2005.
Com base na análise de exemplos de gêneros textuais diversos, a obra se propõe a decodificar cada texto lido localizando as mensagens explícitas e implícitas e descrevendo mecanismos de construção de sentido. Com essa atividade de análise, promove a construção do texto próprio.
EVARISTO, Conceição. Literatura negra: uma voz quilombola na literatura brasileira. In: PEREIRA, Edimilson de Almeida (org.). Um tigre na floresta de signos: estudos sobre poesia e demandas sociais no Brasil. Belo Horizonte: Mazza, 2010. p. 132-142.
O artigo reflete sobre a presença quilombola na literatura brasileira e discorre sobre o conceito de escrevivência, elaborado pela autora.
FILATRO, Andrea; CAVALCANTI, Carolina Costa. Metodologias inov-ativas: na educação presencial, a distância e corporativa. São Paulo: Saraiva, 2018.
O livro aborda diversos tipos de metodologias ativas que podem ser aplicadas em sala de aula e na elaboração de atividades didáticas. As propostas partem das etapas de pesquisa, organização, análises e síntese por parte do estudante, o que se configura também como pensamento computacional.
FIORIN, José Luiz. Argumentação. São Paulo: Contexto, 2015.
Nessa obra, o linguista, professor e pesquisador José Luiz Fiorin apresenta os processos de construção da argumentação: a organização do argumento, os tipos de argumentação e alguns problemas gerais voltados para essa atividade presente em diversas práticas sociais.
ISER, Wolfgang. O ato da leitura: uma teoria do efeito estético. Tradução: Johannes Kretschmer. São Paulo: Editora 34, 1996. v. 1.
O autor se propõe a pensar o modo como o leitor e o texto literário interagem para a formação do significado da obra literária e de seu efeito estético.
JUBRAN, Clélia Spinardi (org.). A construção do texto falado. São Paulo: Contexto, 2019. (Gramática do português culto falado no Brasil, 1).
A coletânea de textos que compõem a obra é elaborada por diversos autores e esclarece conceitos voltados à construção do texto falado. São destacados os processos comuns a esse tipo de texto – como repetição, correção, parafraseamento, parentetização, tematização, rematização e referenciação – e os marcadores discursivos.
KRENAK, Ailton. A vida não é útil. São Paulo: Companhia das Letras, 2020.
O livro reúne conferências ministradas por Ailton Krenak que questionam a utilidade da vida com base na perspectiva da filosofia indígena.
KOCH, Ingedore Villaça. Desvendando os segredos do texto. São Paulo: Cortez, 2002.
Na obra, a autora explora um conteúdo que tem sido foco de atenção dos pesquisadores na área de Linguística Textual: as questões relativas à construção textual dos sentidos, tanto em exercícios de compreensão do texto quanto de produção.
KOCH, Ingedore Villaça; BENTES, Anna Christina; CAVALCANTE, Mônica Magalhães. Intertextualidade: diálogos possíveis. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2012.
Na obra, o conceito de intertextualidade é explorado em seus sentidos estrito e amplo com base nos estudos da Linguística Textual. Para isso, é abordada a intersecção da intertextualidade com a polifonia, a metatextualidade e a hipertextualidade.

KOCH, Ingedore Villaça. Introdução à linguística textual: trajetória e grandes temas. São Paulo: Contexto, 2015. Linguista conhecida por sua trajetória na Linguística Textual, Ingedore Koch aborda, nessa obra, as premissas dos estudos da área, definindo seu surgimento, seus principais objetos de estudo, as formas de articulação textual, as estratégias textual-discursivas de construção de sentido, as marcas de articulação na progressão textual, a intertextualidade e os gêneros do discurso.
KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e escrever: estratégias de produção textual. São Paulo: Contexto, 2009. Estratégias de produção de textos orais e escritos são apresentadas pelas autoras com base em uma abordagem teórica voltada para os pressupostos da Linguística Textual. São apresentados desafios de coerência, coesão referencial e intertextualidade, de modo a refletir sobre a progressão textual.
LEITE, Marli Quadros (org.). Oralidade e ensino. São Paulo: FFLCH-USP, 2020. E-book. (Projetos Paralelos – Nurc/SP, v. 14). Disponível em: www.livrosabertos.abcd.usp.br/portal delivrosUSP/catalog/book/550. Acesso em: 1 out. 2024. Publicação do Projeto de Estudo da Norma Urbana Culta de São Paulo (Nurc/SP), que investiga a língua falada. Nela, são apresentadas reflexões e estudos de diversos linguistas renomados, sobre a abordagem da oralidade na sala de aula. O título apresenta, nas páginas iniciais, as normas de transcrição de discursos falados.
MAINGUENEAU, Dominique. O contexto da obra literária: enunciação, escritor, sociedade. Tradução: Marina Appenzeller. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001. O livro discorre a respeito dos funcionamentos discursivos do texto literário, tendo como ponto de partida a teoria linguística.
MARCUSCHI, Luiz Antônio. Oralidade e escrita. Signótica, Goiânia, v. 9, n. 1, p. 119-145, 2009. Disponível em: https://re vistas.ufg.br/sig/article/view/7396. Acesso em: 1 out. 2024. Nesse ensaio, o autor, conhecido por seus estudos na área de Linguística Textual, comenta a importância de considerar a prática discursiva como uma prática social. Com base nesse pensamento, confirma a impossibilidade de se realizarem
análises comparativas entre língua oral e escrita utilizando-se como base apenas o código linguístico.
MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola, 2008. Uma das obras mais conhecidas de Marcuschi, o livro apresenta estudos divididos em três grandes temas: produção textual, com ênfase na linguística de texto de base cognitiva; análise sociointerativa de gêneros textuais no contínuo fala-escrita; processos de compreensão textual e produção de sentido. No volume, as noções de língua, texto, gênero textual, compreensão e sentido são exploradas em profundidade.
MOISÉS, Massaud. A literatura portuguesa. São Paulo: Cultrix, 1995.
A obra focaliza os principais movimentos literários portugueses, apresentando suas características gerais e ampla bibliografia a respeito de cada.
NEVES, Maria Helena de Moura. A gramática do português revelada em textos. São Paulo: Editora Unesp, 2018. A linguista do texto apresenta, nessa gramática, situações de uso da língua em textos de variados gêneros textuais, observando e analisando os fenômenos linguísticos sob a perspectiva de sua ocorrência nos textos.
NEVES, Maria Helena de Moura. Texto e gramática. São Paulo: Contexto, 2018.
Nessa obra, a autora conceitua o processo de gramaticalização e a relação entre gramática e cognição, além de perpassar por análises sobre referenciação, modalização da linguagem e formação de enunciados complexos.
PEREIRA, Edimilson de Almeida. Entre Orfe(x)u e Exunouveau: análise de uma estética de base afrodiaspórica na literatura brasileira. São Paulo: Fósforo, 2022.
Na obra, o crítico literário e teórico da literatura repensa a apresentação da história da literatura brasileira com base em um olhar voltado para a diáspora africana e o seu papel na construção literária no Brasil e no mundo.
PEREIRA, Sílvio Batista. Vocabulário da carta de Pero Vaz de Caminha. [Rio de Janeiro]: Instituto Nacional do Livro, 1964.
A obra apresenta um glossário dos principais arcaísmos utilizados no texto da carta de Pero Vaz de Caminha.
PERELMAN, Chaïm; OLBRECHTS-TYTECA, Lucie. Tratado da argumentação: a nova retórica. Tradução: Maria Ermantina de Almeida Prado Galvão. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2014.
Principal tratado sobre a nova retórica, o livro apresenta a trajetória da atividade de argumentação ao longo dos séculos até chegar nas atuais estratégias e organizações do discurso argumentativo.
POSSENTI, Sírio. Malcomportadas línguas. São Paulo: Parábola, 2009. (Linguagem, 36).
Trata-se de uma obra que apresenta pequenas análises de fenômenos linguísticos com intuito de provocar reflexões no leitor sobre os limites das regras gramaticais e sobre como a língua de fato se realiza.
POSSENTI, Sírio. Questões de linguagem: passeio gramatical dirigido. São Paulo: Parábola, 2014. (Educação linguística, 7).
Nesse livro, o linguista apresenta diversos tópicos gramaticais sob a perspectiva da compreensão dos fenômenos linguísticos tal como ocorrem de fato no uso da língua como um objeto complexo em constante construção.
ROJO, Roxane; MOURA, Eduardo (org.). Multiletramentos na escola. São Paulo: Parábola, 2012. (Estratégias de ensino, 29).

A pedagogia dos multiletramentos é contextualizada e conceituada pela professora Roxane Rojo nessa obra. Além do conteúdo proposto por ela, diversos autores apresentam análises e práticas de multiletramento possíveis de serem aplicadas em sala de aula.
SANTOS, Antônio Bispo dos. A terra dá, a terra quer. São Paulo: Ubu; [Belo Horizonte]: Piseagrama, 2023.
Na obra, o líder quilombola discorre sobre a colonização e denuncia o medo da natureza que funda o mundo urbano.
SANTOS, Leonor Werneck dos; RICHE, Rosa Cuba; TEIXEIRA, Claudia Souza. Análise e produção de textos. São Paulo: Contexto, 2015. (Linguagem & ensino).
Nessa obra, voltada ao ensino da produção textual no Ensino Fundamental, importantes conteúdos acerca da análise e produção de textos são abordados, como: tipologias e gêneros textuais, leitura de textos escritos e orais e atenção para a análise linguística. Ainda que pensada para o ciclo anterior, os tópicos abordados são muito importantes para a análise e a prática textual no Ensino Médio.
SCHNEUWLY, Bernard; DOLZ, Joaquim. Gêneros orais e escritos na escola. Tradução: Roxane Rojo e Glaís Sales Cordeiro. Campinas: Mercado das Letras, 2004.
Nessa obra, são apresentados encaminhamentos ou procedimentos possíveis para o ensino de gêneros textuais na escola, de maneira a auxiliar os docentes no planejamento e na prática de produções textuais orais e escritas.
SILVA, Ivanda Maria Martins. Literatura no ensino médio: conexões com orientações curriculares. Olh@res, [Guarulhos], v. 5, n. 2, p. 90-107, nov. 2017. Disponível em: https://periodicos.unifesp.br/index.php/olhares/article/ view/709. Acesso em: 1 out. 2024.
O texto reflete sobre o ensino de literatura e as orientações curriculares a seu respeito, apresentando um olhar crítico sobre as práticas de ensino.
SOLÉ, Isabel. Estratégias de leitura. Tradução: Cláudia Schilling. 6. ed. Porto Alegre: Penso, 2014. São apresentadas nessa obra diversas estratégias de trabalho com a leitura em sala de aula, a fim de levar o estudante a desenvolver a compreensão e a interpretação de textos de forma autônoma.
SOUZA, Renata Junqueira de; COSSON, Rildo. Letramento literário: uma proposta para a sala de aula. In: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA (UNESP); UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (UNIVESP). Caderno de formação: formação de professores: didática dos conteúdos. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2011. p. 101-107. (Caderno de Formação, bloco 2, v. 2, n. 10). Disponível em: https://acervodigital.unesp.br/handle/unesp/381259. Acesso em: 1 out. 2024.
O texto foi escrito para professores que buscam fazer o letramento literário em sala de aula e aborda propostas que procuram estimular e ampliar o acesso à leitura.
TEIXEIRA, Níncia Cecília Ribas Borges. Jarid Arraes e a poética de resistência. Palimpsesto, [Rio de Janeiro], v. 17, n. 26, p. 621-636, jan./abr. 2018. Disponível em: https:// www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/palimpsesto/ article/view/35394. Acesso em: 30 set. 2024.
O artigo analisa a relação entre literatura e história com base na poética da autora cearense Jarid Arraes.
TEYSSIER, Paul. História da língua portuguesa. Tradução: Celso Cunha. São Paulo: Martins Fontes, 2019.
O livro apresenta aspectos históricos e linguísticos da formação da língua portuguesa, bem como a modificação do vocabulário e de pronúncias ao longo do tempo.
VALENTE, André Crim (org.). Unidade e variação na língua portuguesa: suas representações. São Paulo: Parábola, 2015. (Linguagem, 68).
Nessa coletânea, renomados linguistas e gramáticos, como Evanildo Bechara, Ataliba de Castilho, Carlos Alberto Faraco, Dante Lucchesi, Marli Quadros Leite e Patrick Charaudeau, apresentam artigos que versam sobre questões gramaticais em uma perspectiva crítica e variacionista.
VIEIRA, Francisco Eduardo; FARACO, Carlos Alberto. Gramática do português brasileiro escrito. São Paulo: Parábola, 2023. (Referenda, 9).
Os autores propõem, para esta obra, um estudo da língua escrita com base no reconhecimento de uma língua brasileira e que, portanto, apresenta muitos anos de pesquisas e estudos linguísticos sobre os fenômenos linguísticos e sua forma de ocorrência especificamente no Brasil.
XAKRIABÁ, Nei Leite. Ensinar sem ensinar. In: CARNEVALLI, Felipe et al. (org.). Terra: antologia afro-indígena. São Paulo: Ubu; Belo Horizonte: Piseagrama, 2023. p. 263-276. O texto aborda as práticas de ensino com base em um recorte indígena, refletindo acerca do modo como as escolas se organizam em torno de saberes associados à branquitude.
ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Tradução: Ernani F. da F. Rosa. Porto Alegre: Artmed, 1998.
Nessa obra, o autor apresenta reflexões sobre a organização do trabalho docente e propõe teorias e métodos de planejamento, replanejamento e avaliação desse trabalho.

Apresentação
Cara professora, caro professor,
Esta coleção foi pensada e escrita para que a vivência do estudante no Ensino Médio seja repleta de conhecimento, curiosidade, experiências e práticas. O objetivo é oferecer repertório e reflexões, para que, ao final desse percurso de estudos, ele se sinta capaz de continuar sua trajetória educacional e seguir um caminho profissional, tornando-se consciente do protagonismo e da autonomia conquistados.
Tanto a coletânea de textos e temas quanto as propostas de atividades e de pesquisas buscam proporcionar o desenvolvimento dos estudantes como cidadãos críticos, criativos e atuantes. Por isso, procurou-se, ao longo dos volumes, incentivá-los a ter uma postura protagonista no mundo que não se encerre na etapa da Educação Básica e promova uma existência na qual o uso da linguagem se faça em prol da construção da diversidade e da defesa dos valores democráticos, dos Direitos Humanos e de uma cultura da paz.
Para facilitar a aplicação das atividades propostas no Livro do Estudante, serão apresentadas orientações que visam auxiliar o seu trabalho, com subsídios teóricos de pesquisa e de ampliação de repertório. A intenção é contribuir com a prática docente de modo a facilitar a aprendizagem dos estudantes.
Bom trabalho!
As autoras

Esta coleção de Língua Portuguesa tem como premissa a concepção da educação que fundamenta os estudos no segmento do Ensino Médio e está exposta na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), lei no 9.394/1996:

Seção IV
Do Ensino Médio
Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, terá como finalidades:
I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;
II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;
III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;
IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina.1
Considerando essas finalidades especificamente no contexto do ensino de Língua Portuguesa, a coleção foi estruturada em quatro seções principais: Estudo Literário, Estudo do Gênero Textual, Estudo da Língua e Oficina de Texto. Essa segmentação abarca, além do estudo da literatura, os quatro eixos do componente curricular de Língua Portuguesa preconizados pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC): “oralidade, leitura/escuta, produção (escrita e multissemiótica) e análise linguística/semiótica” 2 .
Compreende-se que os eixos de oralidade e leitura/ escuta perpassam tanto a seção Estudo Literário quanto a seção Estudo do Gênero Textual, culminando em práticas variadas de produção escrita e multissemiótica na seção Oficina de Texto. A seção Estudo da Língua, que tem o foco na análise linguística, propõe a observação e o aprofundamento dos aspectos da materialidade textual que constroem os diversos enunciados, sejam eles literários ou não.
Na concepção da coleção, buscou-se uma curadoria de textos que se mostrasse a mais diversa possível, no intuito de contemplar e equilibrar a presença dos campos de atuação social (jornalístico-midiático, artístico-literário, da vida pessoal, das práticas de estudo e pesquisa e de atuação na vida pública), que se vinculam às práticas cidadãs, ao trabalho e à continuidade dos estudos.
Além disso, tal como prevê a BNCC, “a leitura do texto literário, que ocupa o centro do trabalho no Ensino Fundamental, deve permanecer nuclear também no Ensino Médio”3; por isso, optou-se por sistematizar os estudos literários em uma seção com o objetivo de oportunizar aos estudantes dessa etapa de ensino uma abordagem mais específica sobre a literatura brasileira e outras produções literárias em língua portuguesa, em uma perspectiva decolonial, intertextual e intersemiótica, com vistas à formação do leitor literário crítico.
Além do campo artístico-literário, os demais campos de atuação social estão presentes de forma consistente nos textos da seção Estudo do Gênero Textual, que tem o objetivo de permitir aos estudantes a apropriação e o aprofundamento de gêneros textuais variados e de diversos campos de atuação social. Desse modo, espera-se que eles se apoderem desses conhecimentos que se mostram como “mecanismo fundamental de socialização, de inserção prática nas atividades comunicativas humanas”4.
A seguir, são apresentadas as bases teórico-metodológicas que sustentam as seções principais da coleção.
Na coleção, o texto literário é compreendido como um espaço discursivo em que a linguagem é articulada de modo a criar uma experiência estética. Essa
1 BRASIL. Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, DF: Presidência da República, [2024]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: 13 out. 2024.
2 BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular: educação é a base. Brasília, DF: MEC, 2018. p. 71. Disponível em: https://www.gov.br/ mec/pt-br/escola-em-tempo-integral/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal.pdf. Acesso em: 2 out. 2024.
3 BRASIL, ref. 2, p. 499.
4 BRONCKART, Jean-Paul. Atividade de linguagem, textos e discursos: por um interacionismo sociodiscursivo. Tradução: Anna Rachel Machado e Péricles Cunha. São Paulo: Educ, 1999. p. 103.

articulação acontece porque, nos textos literários, a forma de expressão da linguagem tende a modificar a compreensão do sentido do texto lido, provocando o leitor a se relacionar com a língua com base em outro ponto de vista e a atribuir significados aos conteúdos ali expressos. Como aponta o teórico da literatura e professor francês Roland Barthes (1915-1980), em sua obra Aula, uma das forças da literatura “consiste em jogar com os signos em vez de destruí-los, em colocá-los numa maquinaria de linguagem cujos breques e travas de segurança arrebentaram, em suma, em instituir no próprio seio da linguagem servil uma verdadeira heteronímia das coisas”5
Contudo, tais deslocamentos da linguagem propostos pelo texto literário se estabelecem em um contexto sócio-histórico específico. Conforme aponta a BNCC6, cabe aos estudos do campo artístico-literário resgatar a historicidade dos textos, observando seus modos de produção, circulação e recepção e analisando a maneira como as estruturas de poder se manifestam nas expressões artísticas – seja por meio de um viés contestatório, seja por um viés afirmativo. Nesse sentido, em consonância com a BNCC, a coleção procura apresentar o estudo da literatura como espaço de construção de sentidos e de crítica social e política, uma vez que toda obra literária se relaciona a determinada visão de mundo que se situa em determinado contexto histórico, entremeado por processos de assimilação, ruptura e permanência.
A exploração do texto literário como proposta inicial de cada capítulo têm três objetivos principais: fomentar a experiência estética da linguagem, convidando o estudante a elaborar os sentidos do texto e a reconhecer nele suas possibilidades interpretativas; analisar o modo como as características estéticas de cada obra se relacionam com seu contexto histórico, reconhecendo as formas de apreensão do imaginário e a sensibilidade em jogo em determinadas épocas; e propor uma reflexão crítica sobre o modo como as relações de poder se estabelecem entre diferentes obras, autores ou contextos de produção artístico-literária. A subseção Diálogos, nesse contexto, entra como espaço articulador das obras que se situam em diferentes épocas, estilos ou concepções. Esse movimento é importante porque possibilita estabelecer conexões e, como argumenta o poeta, pesquisador e professor de literatura e cultura afro-brasileira
Edimilson de Almeida Pereira, “captar a realidade e transpô-la para a literatura implica definir os espectros da realidade que se evidenciaram para alguns escritores e algumas escritoras a partir das perguntas lançadas por eles ao cenário social que os envolve”7
O ensino de literatura com foco na formação do leitor literário pode se beneficiar ao priorizar o contato direto dos estudantes com os textos literários. A leitura de textos literários é em si um ato de reescrita, no qual o leitor reconfigura o texto com base em suas próprias experiências e interpretações, criando pontos de vista ou legitimando os já existentes. A esse respeito, a professora de Literatura Brasileira, Teoria Literária e Metodologia de Ensino de Literatura, Ivanda Maria Martins Silva, discorre, com base no pensamento do filósofo russo Mikhail Bakhtin (1895-1975), dos teóricos da literatura alemães Wolfgang Iser (1926-2007) e Hans Robert Jauss (1921-1997):
É fundamental que os estudantes percebam as dimensões dialógicas e polifônicas (BAKHTIN, 1993) da literatura, compreendendo as vozes sociais representadas mimeticamente nas obras literárias, bem como percebendo as relações entre autores, obras e leitores, ancoradas em processos socioculturais e históricos. As leituras dos estudantes precisam ser mais valorizadas no espaço de sala de aula, ampliando-se a compreensão da leitura literária como processo de negociação e (re)construção de sentidos, em que o leitor tem papel fundamental. (ISER, 2002; JAUSS, 1994)8. Dessa forma, o processo de formação do leitor literário é uma prática ativa, na qual os estudantes estabelecem diálogo com as múltiplas vozes presentes na obra literária, com as condições históricas e sociais que a moldam e com as suas características estéticas. Por meio desse processo, eles podem se tornar capazes de ressignificar o texto, ampliando sua compreensão e participando da construção coletiva de novos significados. Nesse contexto, é desejável que a leitura e a análise da experiência propiciada pelo texto literário ocupem a primeira etapa dos estudos da literatura, evitando uma abordagem que se restrinja à apresentação rígida das características de cada movimento literário
5 BARTHES, Roland. Aula. Tradução: Leyla Perrone-Moisés. São Paulo: Cultrix, 1978. p. 28-29.
6 BRASIL, ref. 2, p. 523-524.
7 PEREIRA, Edimilson de Almeida. Entre Orfe(x)u e Exunouveau: análise de uma estética de base afrodiaspórica na literatura brasileira. São Paulo: Fósforo, 2022. p. 18.
8 SILVA, Ivanda Maria Martins. Literatura no ensino médio: conexões com orientações curriculares. Olh@res: Revista do Departamento de Educação da Unifesp, Guarulhos, v. 5, n. 2, p. 90-107, nov. 2017. p. 98-99. Disponível em: https://periodicos.unifesp.br/index.php/olhares/article/view/709. Acesso em: 16 out. 2024.
em associação ao período histórico em que a obra foi concebida. Essa perspectiva pode favorecer a construção de interpretações mais significativas e autorais por parte dos estudantes.
Em consonância com a BNCC, propõe-se também o trabalho de escrita literária, com o objetivo de experimentar recursos linguísticos e incentivar a expressão pessoal. Nos Capítulos 2, 4 e 6 de cada volume, a seção Estudo Literário é complementada pela seção Oficina Literária, que amplia a vivência estética e crítica dos estudantes no Ensino Médio. Nessa seção, os estudantes são encorajados a produzir seus próprios textos literários, explorando a criatividade e experimentando as diversas possibilidades de expressão em posição de protagonismo.

Portanto, o estudo da literatura nesta coleção valoriza simultaneamente a fruição estética, a análise literária e a escrita literária, tendo em vista o reconhecimento dos processos envolvidos na produção do texto literário. Para isso, articulam-se teorias que analisam a formação e a história da literatura brasileira – como as propostas pelos professores e pesquisadores Antonio Candido (1918-2017), no livro Formação da literatura brasileira: momentos decisivos9, e Alfredo Bosi (1936-2021), na obra História concisa da literatura brasileira10 –, além de teorias que buscam compreender os processos estéticos, políticos e sociais que fizeram alguns autores serem escolhidos como destaque em detrimento de outros no decorrer da história literária, análise proposta por Edimilson de Almeida Pereira11. Tal questionamento é incentivado entre os estudantes com base no estabelecimento de relações entre literaturas produzidas em diferentes períodos e através de diversos recortes e pontos de vista.
Na coleção, a ordem de trabalho com os movimentos literários não se dá de forma cronológica; ela é orientada tanto pelo tema transversal do capítulo quanto pela estruturação de cada volume, explicitada a seguir.
• O primeiro volume, que se inicia com o texto A carta, de Pero Vaz de Caminha, busca discorrer sobre a representação e a representatividade da população indígena por meio da literatura indígena e sobre a literatura negra contemporânea. O volume apresenta aos estudantes autores como Ailton Krenak, Luís de Camões, Conceição Evaristo, Eliane Potiguara,
Gonçalves Dias, Mia Couto e Jarid Arraes. Nesse volume, Temas Contemporâneos Transversais (TCTs) como Multiculturalismo e Meio Ambiente se articulam às discussões propostas pelos textos literários, incentivando os estudantes a refletir sobre questões relevantes na contemporaneidade.
• O segundo v olume, por sua vez, busca ampliar essa discussão, trazendo temas como desigualdade, opressão e construção da subjetividade, bem como consolidação da ideia de que a literatura é uma ferramenta política e de crítica social sob a ótica de autores como Cruz e Sousa, Agostinho Neto, Machado de Assis, Ana Martins Marques e Ariano Suassuna. Nesse volume, TCTs como Saúde e Economia ampliam a análise crítica.
• No t erceiro volume, há o aprofundamento dos temas iniciados no segundo volume com base na perspectiva do Modernismo e da sua relação com a modernidade e com a construção da subjetividade do sujeito diante de um mundo em crise. Entre os autores trabalhados no volume estão Guimarães Rosa, Fernando Pessoa, Pepetela e Clarice Lispector. Tanto o TCT Cidadania e Civismo quanto o TCT Ciência e Tecnologia contribuem para contextualizar essas reflexões, conectando-as a questões contemporâneas e promovendo uma aproximação com a realidade e os interesses da juventude.
Esse percurso didático de estudo da literatura busca tensionar o lugar dos movimentos literários no ensino escolar – não para descartá-los, mas para colocar em evidência as relações de poder que moldam o sistema literário. A ideia é levar os estudantes a compreender que as construções discursivas se estabelecem por meio de um viés ideológico e que com a história da literatura não é diferente.
O estudo da literatura na coleção busca, portanto, instigar os estudantes a se tornarem cidadãos críticos e conscientes também no campo artístico-literário. Ao explorarem a diversidade de vozes e experiências presentes nos textos literários, os estudantes são incentivados a questionar as narrativas dominantes e a refletir sobre as complexas intersecções entre literatura, sociedade e poder. Essa abordagem integrada, que une fruição estética, análise crítica e produção literária, visa promover um aprendizado significativo, podendo levar os estudantes a desempenhar um papel ativo em suas comunidades e também fora delas.
9 CANDIDO, Antonio. Formação da literatura brasileira: momentos decisivos. Belo Horizonte: Itatiaia, 2000.
10 BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. São Paulo: Cultrix, 2003.
11 PEREIRA, ref. 7.
A proposta de estudo dos gêneros textuais, nesta coleção, tem amparo teórico e metodológico nos preceitos propostos por Bakhtin em seu texto “Os gêneros do discurso”, no qual ele define a constituição dos gêneros discursivos em conteúdo temático, construção composicional e estilo:

Todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da linguagem. Compreende-se perfeitamente que o caráter e as formas desse uso sejam tão multiformes quanto os campos da atividade humana, o que, é claro, não contradiz a unidade nacional de uma língua. O emprego da língua efetua-se em formas de enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. Esses enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de cada referido campo não só por seu conteúdo (temático) e por seu estilo de linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua mas, acima de tudo, por sua construção composicional. Todos esses três elementos – o conteúdo temático, o estilo, a construção composicional – estão indissoluvelmente ligados no todo do enunciado e são igualmente determinados pela especificidade de um determinado campo da comunicação. Evidentemente, cada enunciado particular é individual, mas cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso12
Baseada na concepção dos três elementos que se fundem de maneira indissolúvel no todo do enunciado, a seção Estudo do Gênero Textual, que representa o segundo momento de prática leitora nos capítulos, é dividida em três subtítulos: Conteúdo do [gênero textual], o qual apresenta atividades relacionadas ao conteúdo temático do texto; Composição e contexto do [gênero textual], no qual se apresentam atividades relacionadas à construção composicional do gênero textual que exploram a sua estrutura e o relacionam ao contexto sócio-histórico de circulação; e A linguagem do texto, que apresenta atividades
relacionadas ao estilo do gênero, explorando a análise da materialidade de fenômenos linguísticos que contribuem para os efeitos de sentido gerados nos textos analisados. Em diálogo com os preceitos bakhtinianos, o estudo do gênero textual baseia-se ainda nos estudos da Linguística Textual, nas vozes teóricas dos linguistas Luiz Antônio Marcuschi (1946-2016) e Ingedore Villaça Koch (1933-2018). Os estudos propostos pela coleção reconhecem também as diversas tendências e perspectivas no estudo e no tratamento dos gêneros textuais, assim como a existência de duas nomeações usuais: gênero textual e gênero do discurso. No entanto, como explica Marcuschi, em sua obra Produção textual, análise de gêneros e compreensão, não é interessante distinguir rigidamente essas duas nomenclaturas, tampouco tratá-las como dicotômicas ou excludentes, da mesma forma que não é interessante distinguir rigidamente texto e discurso. Nesta coleção, priorizou-se o uso da nomenclatura gênero textual; no entanto, é considerado também o caráter discursivo dos gêneros contemplados ao longo da coleção. Independentemente dessas escolhas, pode-se estabelecer que essas visões teóricas têm em comum a concordância entre as seguintes premissas:
(a) na noção de linguagem como atividade social e interativa;
(b) na visão de texto como unidade de sentido ou unidade de interação;
(c) na noção de compreensão como atividade de construção de sentido na relação de um eu e um tu situados e mediados e
(d) na noção de gênero textual como forma de ação social e não como entidade linguística formalmente constituída.13
Da mesma maneira, a diferenciação entre gêneros e tipos textuais não deve ser enxergada como um exercício dicotômico, pois ambos os conceitos apresentam, em maior ou menor medida, relação de complementaridade, já que todos os textos realizam um gênero e todos os gêneros apresentam uma diversidade de tipos, com a possível predominância de um deles.
Considerando que os estudantes já trazem, desde o Ensino Fundamental – Anos Finais, um vasto conhecimento acerca dos diversos gêneros textuais que circulam socialmente e são sujeitos envolvidos em diversas situações comunicativas e contextos sociais, no boxe Primeiro olhar, propõem-se perguntas que antecedem
12 BAKHTIN, Mikhail. Os gêneros do discurso. In: BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. Tradução: Paulo Bezerra. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 261-262.
13 MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola, 2008. p. 21.
a leitura de cada texto, com objetivo de desenvolver a competência metagenérica dos estudantes, termo cunhado pelas linguistas do texto Ingedore Koch e Vanda Elias em sua obra Ler e escrever: estratégias de produção textual.
Em outras palavras, todos nós, falantes/ ouvintes, escritores/leitores, construímos, ao longo de nossa existência, uma competência metagenérica, que diz respeito ao conhecimento de gêneros textuais, sua caracterização e função.

É essa competência que propicia a escolha adequada do que produzir textualmente nas situações comunicativas de que participamos. Por isso, não contamos piada em velório, nem cantamos o hino do nosso time de futebol em uma conferência acadêmica, nem fazemos preleções em mesa de bar14.
Dessa maneira, o leitor, com seu conhecimento e suas experiências, tem a possibilidade de ativar uma pluralidade de leituras e sentidos através da sua postura diante do texto e da autoria. Os estudantes devem, portanto, ser valorizados em seu lugar de leitores que carregam o próprio repertório e devem ser incentivados a refletir criticamente sobre o modo como a interação autor-texto-leitor se estabelece no momento da leitura. Isso certamente lhes dará a confiança para experimentar a autoria na seção Oficina de Texto.
Na subseção Diálogos da seção Estudo do Gênero Textual, buscou-se incentivar os estudantes a realizar intersecções entre os textos apresentados, as quais podem surgir do diálogo tanto entre conteúdos temáticos quanto entre gêneros textuais pertencentes ao mesmo campo de atuação ou não. Com isso, os textos e as atividades propostas na subseção pretendem reforçar o caráter relacional do texto, com o entendimento de que nenhum texto está isolado e solitário; pelo contrário, todos os textos dialogam com outros e, assim, sempre mantêm algum aspecto dialógico e, portanto, intertextual.
Entre os inúmeros contextos interculturais e práticas sociais dos quais emergem os mais variados gêneros textuais, optou-se pela escolha daqueles que apresentassem variação linguística, social, temática, de autoria e de visões de mundo, orientando-se pela representação da pluralidade cultural brasileira. Consideraram-se também as novas demandas atualizadas desse autor-leitor que adentra a sala de aula, o estudante do Ensino
Médio, com intuito de acompanhar e fortalecer suas experiências nos multiletramentos, apresentados pela linguista e professora Roxane Rojo como:
[…] dois tipos específicos e importantes de multiplicidade presentes em nossas sociedades, principalmente urbanas, na contemporaneidade: a multiplicidade cultural das populações e a multiplicidade semiótica de constituição dos textos por meio dos quais ela se informa e se comunica.
No que se refere à multiplicidade de culturas, é preciso notar: como assinala García Canclini (2008[1989]: 302-309), o que hoje vemos à nossa volta são produções culturais letradas em efetiva circulação social, como um conjunto de textos híbridos de diferentes letramentos (vernaculares e dominantes), de diferentes campos (ditos ‘popular/de massa/ erudito’), desde sempre, híbridos, caracterizados por um processo de escolha pessoal e política e de hibridização de produções de diferentes ‘coleções’15.
Entre as vivências situadas nas práticas de linguagem, destaca-se também o trabalho proposto com os letramentos midiático e digital, que procura oferecer aos estudantes um entendimento mais aprofundado acerca da produção, circulação e apropriação de informações nas diversas mídias e redes sociais. O objetivo é o fortalecimento de uma consciência crítica e ética, incentivada desde os primeiros ciclos da Educação Básica. Da mesma maneira, é fundamental promover um equilíbrio entre a apresentação de gêneros textuais surgidos das novas tecnologias e de gêneros textuais vigentes antes delas.
Destaca-se também a preocupação em abarcar gêneros textuais da oralidade de modo mais sistematizado, muitas vezes em diálogo com as multissemioses, embora haja uma preocupação da coleção em não apresentar uma dicotomia entre fala e escrita, compreendendo-as como um continuum nas práticas sociais, tal como expõem Ingedore Koch e Vanda Elias: […] Vem-se postulando que os diversos tipos de práticas sociais de produção textual situam-se ao longo de um contínuo tipológico, em cujas extremidades estariam, de um lado, a escrita formal e, de outro, a conversação espontânea, coloquial. Escreve Marcuschi (1995: 13): ‘As diferenças entre fala e escrita se dão
14 KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e escrever: estratégias de produção textual. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2010. p. 54.
15 ROJO, Roxane; MOURA, Eduardo (org.). Multiletramentos na escola. São Paulo: Parábola, 2012. p. 13.

dentro do continuum tipológico das práticas sociais e não na relação dicotômica de dois polos opostos’.
Para situar as diversas produções textuais ao longo desse contínuo, pode-se levar em conta, além do critério do meio, oral ou escrito, o critério da proximidade/distância (física, social, etc.), bem como o envolvimento maior ou menor dos interlocutores.
Assim, num dos polos estaria situada a conversação face a face, no outro, a escrita formal, como os textos acadêmicos, por exemplo. O que se verifica, porém, é que existem textos escritos que se situam, no contínuo, mais próximos ao polo da fala conversacional como, por exemplo, bilhetes, cartas familiares, textos publicitários […].
Da mesma forma que muitos textos escritos se situam próximos ao polo da fala, também existem muitos textos falados que mais se aproximam do polo da escrita formal (conferências, entrevistas profissionais para altos cargos administrativos e outros), havendo, ainda, tipos mistos, além de muitos outros intermediários16 .
De todo modo, a abordagem dessas modalidades nos gêneros escolhidos é realizada com a preocupação de demonstrar características específicas de cada uma delas, especialmente nas situações de interação entre interlocutores.
O estudo dos gêneros textuais, de forma específica, e a coleção, de modo geral, procuram também valorizar o incentivo à análise dos elementos paratextuais, ou seja, do conjunto de itens que acompanham o texto, trazendo informações para sua identificação e utilização. Elementos como capa, ilustração e diferentes tipos de letra, entre outros tantos, são objeto de análise junto com o texto que acompanham, sempre que se julgar oportuno para levar os estudantes a se perguntarem de que maneira essas instâncias se relacionam ao gênero textual. Dominique Maingueneau, em Da fala para a escrita: atividades de retextualização, ressalta a importância desses elementos, afirmando que “é necessário reservar um lugar importante ao modo de manifestação material dos discursos,
ao seu suporte, bem como ao seu modo de difusão: enunciados orais, no papel, radiofônicos, na tela do computador etc.”17.
A prática da produção do gênero textual, na coleção, apresenta-se na seção Oficina de Texto e é compreendida como um espaço para o estudante refletir e se integrar com seu entorno, em propostas que se contextualizam como práticas sociais e seguem prioritariamente o estudo do gênero em destaque na leitura. Entende-se que, quando o estudante compreende um gênero textual, reconhecendo suas características a ponto de praticá-las em uma criação própria e em determinada situação de produção, ele não coloca em prática apenas uma forma linguística, mas também legitima o próprio discurso, criando sustentação para sua justificativa individual nas interações sociais das quais participa. Essa compreensão tem base no que expõe Marcuschi:
Os gêneros são atividades discursivas socialmente estabilizadas que se prestam aos mais variados tipos de controle social e até mesmo ao exercício do poder. Pode-se, pois, dizer que os gêneros textuais são nossa forma de inserção, ação e controle social no dia a dia. Toda e qualquer atividade discursiva se dá em algum gênero que não é decidido ad hoc, como já lembrava Bakhtin ([1953]1979) em seu célebre ensaio sobre os gêneros do discurso Daí também a imensa pluralidade de gêneros e seu caráter essencialmente sócio-histórico. Os gêneros são também necessários para a interlocução humana.
[…]
[…] A vivência cultural humana está sempre envolta em linguagem, e todos os nossos textos situam-se nessas vivências estabilizadas em gêneros. Nesse contexto, é central a ideia de que a língua é uma atividade sociointerativa de caráter cognitivo, sistemática e instauradora de ordens diversas na sociedade. O funcionamento de uma língua no dia a dia é, mais do que tudo, um processo de integração social. Claro que não é a língua que discrimina ou que age, mas nós que com ela agimos e produzimos sentidos.18
16 KOCH; ELIAS, ref. 14, p. 14-15.
17 MAINGUENEAU, Dominique. Análise de textos de comunicação. Tradução: Cecília P. de Souza-e-Silva, Décio Rocha. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2004. p. 71.
18 MARCUSCHI, ref. 13, p. 161-163.
Por fim, é importante ressaltar que os gêneros textuais são inúmeros, pois também são inúmeras as práticas sociais que motivam a criação de cada um deles. Os gêneros não são estanques, pois são culturalmente construídos pelo ser humano e por ele podem ser alterados, modificados e inventados. Este é o desafio aceito por esta coleção: apresentar um caminho didático que promova a recorrência de uma prática leitora com foco no estudo do gênero textual, mas que esteja atrelado a uma postura analítica flexível diante da diversidade de gêneros textuais que circulam socialmente.

A seção Estudo da Língua, nesta coleção, tem amparo teórico e metodológico nos preceitos de análise linguística como estudo da constituição interna e do funcionamento da língua, com vistas à condução do estudante ao domínio da norma-padrão. Sobre esse viés de abordagem, as professoras e pesquisadoras da área de Linguística Aplicada da Universidade Estadual de Campina Grande (UFCG), Maria Auxiliadora Bezerra e Maria Augusta Reinaldo, em sua obra Análise linguística: afinal, a que se refere?, esclarecem que, […] com base nos tipos de texto e nos níveis de organização da língua, a reformulação dos textos dos alunos […] [visa] alcançar o registro formal escrito. Vemos que a prática de análise linguística assume um status teórico-metodológico: teórico, porque constitui um conceito que remete a uma forma de observar dados da língua, apoiada em uma teoria; metodológico, porque é utilizado na sala de aula como um recurso para o ensino reflexivo da escrita19
Na perspectiva da análise linguística, as classificações e nomenclaturas são consideradas insuficientes para a aprendizagem proficiente da língua pelo estudante; por isso, a gramática tradicional recebe o acréscimo de outras linhas teóricas de análise, como a Linguística Textual, a Análise do Discurso e a Argumentação, com o objetivo de desenvolver a investigação no plano textual com base nos fatos linguísticos dele emergente.
Isso significa que as análises sobre os fenômenos linguísticos são propostas considerando as realizações desses fenômenos na construção textual e circunscrevendo-os,
desse modo, a um contexto de enunciação que usa a língua como operador para certos propósitos comunicativos.
A coleção, nesse sentido, pautou-se nos preceitos da BNCC sobre a compreensão das práticas de análise linguística entendidas como práticas de linguagem ao lado da oralidade, da leitura/escuta de textos e da produção escrita e multissemiótica de textos. O documento apresenta a análise linguística/semiótica como conhecimentos linguísticos “sobre o sistema de escrita, o sistema da língua e a norma-padrão –, textuais, discursivos e sobre os modos de organização e os elementos de outras semioses”20, não tomados como um fim em si, mas apresentados aos estudantes sob a forma de reflexão e identificação dos fenômenos linguísticos.
A integração proposta entre as práticas de linguagem se materializa, na organização da obra, no subtítulo A linguagem do texto, presente nas seções Estudo Literário e Estudo do Gênero Textual de forma sistemática em todos os capítulos, e na seção Estudo da Língua, especificamente com natureza teórica e metalinguística, em propostas que partem de investigações sobre os fenômenos linguísticos com base em sua ocorrência nos textos do capítulo, sempre que possível.
Nessa trajetória didática, os estudantes são incentivados a analisar como o texto é construído com base em certos fenômenos linguísticos e, desse modo, reconhecer o uso intencional de recursos linguísticos e seus efeitos de sentido, em um movimento metalinguístico sobre o funcionamento da língua construído transversalmente às outras práticas de linguagem. Nessa perspectiva, efeitos de sentido são as diversas expressões que o uso de certo recurso promove na compreensão do texto, as quais não provêm apenas do recurso em si, previamente determinado pela gramática, mas de sua contextualização e intencionalidade no texto, tais como: contribuir para coerência e coesão, topicalizar e construir a progressão temática.
Assim, no subtítulo A linguagem do texto, os estudantes são conduzidos a analisar a materialidade dos textos literários e de gêneros textuais diversos (orais, escritos e multissemióticos), para reconhecer as formas de composição e o estilo adotado, elementos que contribuem para seus efeitos de sentido. Trata-se de análises que têm como parâmetro a constituição do estilo nesses textos, relacionado, portanto, a escolhas lexicais e à variedade linguística, além de mecanismos morfológicos e sintáticos que se
19 BEZERRA, Maria Auxiliadora; REINALDO, Maria Augusta. Análise linguística: afinal a que se refere? 2. ed. Recife: Pipa Comunicação; Campina Grande: EDUFCG, 2020. p. 18.
20 BRASIL, ref. 2, p. 71.
relacionam ao contexto de produção, ou seja, ao acionamento feito pelo enunciador diante da situação enunciativa, tal como proposto por Bakhtin em seu texto “Os gêneros do discurso”21, ao definir a constituição dos gêneros discursivos em conteúdo composicional, estrutura e estilo.
Especificamente na seção Estudo da Língua, além do estudo analítico dos recursos linguísticos que constroem a materialidade textual, propõe-se o reconhecimento da presença de certos recursos linguísticos, com base em análises indutivas, seguido da sistematização do conceito linguístico em foco, no boxe Conceito. Ao término desse percurso didático, apresentam-se atividades que investigam a presença de alguns dos fenômenos estudados em textos de outros gêneros e campos de atuação, com o objetivo de possibilitar ao estudante o desenvolvimento da habilidade de transposição analítica e crítica daquilo que aprendeu.

A coleção apresenta os conteúdos em progressão, e sua sistematização oferece ao estudante uma abordagem que busca priorizar o funcionamento comunicativo em experiências textuais e discursivas autênticas, emergentes de situações reais. Entende-se que a concepção dos estudos linguísticos, especificamente no Ensino Médio, deva ser pautada em propostas de aprofundamento das habilidades gerais previamente desenvolvidas no Ensino Fundamental – Anos Finais, com ampliação de seu grau de complexidade, sobretudo no que tange à capacidade de análise, compreensão e síntese dos efeitos de sentido dos fenômenos nos textos. Assim, os textos literários e não literários são compreendidos como objetos de estudo linguístico a fim de garantir que a análise dos fenômenos perpasse por observações éticas, estéticas e políticas relacionadas à língua.
Os conteúdos gramaticais apresentados foram escolhidos de modo a estabelecer progressão entre os níveis de análise fonético-fonológico, morfológico, morfossintático e sintático – todos permeados pela semântica e pela pragmática – por meio de estudos contextualizados em situações textuais de produção. Busca-se a correção conceitual e analítica em gramáticas consolidadas que se mostram mais afinadas com a compreensão de língua como um conjunto de sistemas linguísticos que se manifestam em contextos sociais e culturais, e não como um sistema autônomo de regras. Em sua Nova gramática do português contemporâneo, os gramáticos Celso Cunha (1917-1989) e Luís
Filipe Lindley Cintra (1925-1991) reconhecem esse caráter ao registrar a importância da Sociolinguística como ciência
e da compreensão dos fenômenos linguísticos, chamando atenção para o prestígio associado à norma-padrão:
A sociolinguística, ramo da linguística que estuda a língua como fenômeno social e cultural, veio mostrar que estas inter-relações são muito complexas e podem assumir diferentes formas. Na maioria das vezes, comprova-se uma covariação do fenômeno linguístico e social. Em alguns casos, no entanto, faz mais sentido admitir uma relação direcional: a influência da sociedade na língua, ou da língua na sociedade.
[…] O fato de estar a língua fortemente ligada à estrutura social e aos sistemas de valores da sociedade conduz a uma avaliação distinta das características das suas diversas modalidades diatópicas, diastráticas e diafásicas. A língua padrão, por exemplo, embora seja uma entre as muitas variedades de um idioma, é sempre a mais prestigiosa, porque atua como modelo, como norma, como ideal linguístico de uma comunidade22.
Essa compreensão de língua apresentada pelos autores se reflete na sistematização dos fenômenos linguísticos sem deixar de lado as variações e os estudos gramaticais contemporâneos, tal como eles explicam: “Não descuramos, porém, dos fatos da linguagem coloquial, especialmente ao analisarmos os empregos e os valores afetivos das formas idiomáticas”23.
A obra A gramática do português revelada em textos, da linguista Maria Helena de Moura Neves (19312022), também inspira as propostas e encaminhamentos analíticos da coleção. A autora apresenta seu livro da seguinte maneira:
No testemunho do geral dos professores ensina-se gramática para que os alunos tenham o melhor desempenho linguístico. Se assim é, há de prever-se que o estudo da gramática sirva a esse fim, o que só se pode obter se o ponto de partida for uma reflexão teoricamente bem conduzida sobre os usos. A proposta que aqui se desenvolve pretende exatamente o caminho para uma penetração do fazer do ‘texto’ capaz de conferir ao falante da língua uma apropriação de gatilhos que, nas diferentes situações, disparem usos apropriados e significativos
21 BAKHTIN, ref. 12.
22 CUNHA, Celso; CINTRA, Luís Filipe Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 5 ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 2009. p. 3-4.
23 CUNHA; CINTRA, ref. 22, p. XXIV.

(em uma ponta) e favoreçam captações ricas e tranquilas (na outra ponta).
O ‘mundo da gramática’, que alguns insistem em constituir como um edifício de doutrina petrificada, isolado da linguagem, precisa ser visto como o mesmo mundo em que nos movemos quando falamos, quando lemos, quando escrevemos (quando fazemos linguagem), e esse é o mesmo mundo em que nos movemos quando refletimos e falamos sobre a linguagem (fazemos metalinguagem). Uma atividade (re)alimenta a outra, e é um grande desperdício usar um espaço de tempo com lições de gramática que apenas representem reproduzir termos da metalinguagem, sem aproveitar o que do funcionamento linguístico está realmente representado nesses termos24.
Em todos os níveis de análise, foram propostas investigações que permitissem aos estudantes considerar os usos linguísticos e suas possibilidades de variação, o que se destaca no subtítulo A língua em uso , presente de forma sistematizada na seção de Estudo da Língua . Os estudos variacionistas perpassam a ampliação dos conhecimentos sobre as variedades linguísticas do português brasileiro, sob a perspectiva da teoria variacionista proposta na Gramática pedagógica do português brasileiro , do linguista Marcos Bagno:
[…] um produto humano e não existe produto humano que não se configure, consciente ou inconscientemente, como uma tomada de posição política inspirada por uma ou mais ideologias; o mito da ciência ‘neutra’ não tem mais lugar na era em que vivemos. Assim, essa obra milita a favor do reconhecimento do português brasileiro como uma língua plena, autônoma, que deve se orientar por seus próprios princípios de funcionamento e não por uma tradição gramatical voltada exclusivamente para o português europeu literário antigo. Essa militância se traduz no emprego consciente de formas linguísticas há muito tempo incorporadas à gramática do português brasileiro […], rejeita a tradicional separação entre diacronia e sincronia e assume o
fenômeno linguístico como eminentemente pancrônico, variável e mutante. Desse modo, o recurso às transformações ocorridas na(s) língua(s) ao longo do tempo é indispensável para o (re)conhecimento preciso do que ocorre aqui e agora.25
Em relação a essa abordagem proposta pelo autor, vale destacar, no entanto, que a coleção não rejeita o ensino dos preceitos gramaticais, mas considera também essencial o reconhecimento dos fenômenos que emergem de seu uso e que favorecem a mudança, ainda que precisem de mais sistematização por compêndios gramaticais. Nesse sentido, a opção foi propor análises que possibilitassem aos estudantes comparar o tratamento dado pela gramática tradicional e pelas gramáticas contemporâneas aos tópicos gramaticais em seu contexto de uso, para que percebessem a complexidade da manifestação da língua em uso e, consequentemente, compreendessem a importância de considerar os fenômenos de diversidade e mudança.
A coleção procura também abordar o reconhecimento do multilinguismo presente no país, com base em discussões que envolvem o lugar das políticas linguísticas e do espaço para as línguas minoritárias e cooficiais. Diversos pesquisadores vêm se debruçando sobre os aspectos históricos que constituem a variedade brasileira da língua portuguesa, sobretudo como uma língua formada através de diversas situações de contato. A esse respeito, os dialetólogos Heliana Mello, Cléo V. Altenhofen e Tommaso Raso alertam:
O Brasil é, dentro dessa realidade que interessa ao mundo todo, um caso exemplar. Toda a sua história é ligada ao contato entre povos de línguas diferentes, aos fenômenos migratórios, aos conflitos que criaram uma ilusão monolíngue e a uma recente valorização das diferenças linguísticas e culturais aqui existentes26
Nessa perspectiva, os estudantes são incentivados a refletir sobre o processo de formação histórica da língua portuguesa no Brasil e sobre as diversas comunidades linguísticas existentes no país, bem como a respeito do contexto de cooficialização de outras línguas com a portuguesa e sua legitimidade como constituinte da diversidade linguística do país.
24 NEVES, Maria Helena de Moura. A gramática do português revelada em textos. São Paulo: Editora Unesp, 2018. p. 19.
25 BAGNO, Marcos. Gramática pedagógica do português brasileiro. São Paulo: Parábola, 2012. p. 14.
26 MELLO, Heliana; ALTENHOFEN, Cléo V.; RASO, Tommaso (org.). Os contatos linguísticos no Brasil. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2011. p. 9.
O contexto de coexistência de outras línguas com a língua portuguesa e as análises variacionistas propostas possibilitam aos estudantes reconhecer o caráter político das línguas, tanto no que se refere à definição de um status de língua para determinada variedade quanto em relação ao reconhecimento de variedades prestigiadas e estigmatizadas, com o objetivo de subsidiá-los com conhecimentos e possibilidades de desenvolvimento de argumentação crítica para combater preconceitos linguísticos.
Tendo em vista a escolha textual ser orientada também pela perspectiva dos multiletramentos, as análises linguísticas perpassam por análises multissemióticas, que levam em consideração aspectos composicionais ligados à sintaxe visual e à construção de outras linguagens em combinação com textos escritos e orais. Nesse contexto, a oralidade também é analisada sob o ponto de vista de sua materialidade, por meio tanto de recursos linguísticos presentes no texto verbal quanto de recursos não verbais que constituem sua organização, em convergência com o que compreende a BNCC, como “ritmo, altura, intensidade, clareza de articulação, variedade linguística adotada, estilização etc. –, assim como os elementos paralinguísticos e cinésicos – postura, expressão facial, gestualidade etc.”27.

Esses aspectos são apresentados com base na investigação em textos de diferentes gêneros e campos de atuação social, para possibilitar aos estudantes reconhecer sua manifestação intencional, correspondente ao propósito comunicativo, e são embasados nos estudos organizados pela professora e pesquisadora da área de estudos do discurso, Clélia Spinardi Jubran, na obra A construção do texto falado28, que também consideram fenômenos como repetição, correção, parafraseamento, referenciação e uso de marcadores discursivos típicos da modalidade oral.
Vale ressaltar que as separações aqui expostas, que consideram a análise linguística/semiótica, a variação, o multilinguismo e a oralidade, são de ordem didática, tendo em vista que essas práticas de linguagem coocorrem nas situações de enunciação orais e escritas.
O Livro do Estudante está estruturado em três volumes com seis capítulos cada, subdivididos em seções e subseções. A seguir é apresentada a descrição de cada uma delas.
Abertura: apresenta uma imagem motivadora para o início das discussões acerca do tema e dos conteúdos desenvolvidos no capítulo. Com base nela, são propostas questões para serem discutidas oralmente, referentes à leitura da imagem, ao estudo de literatura, ao gênero textual e à análise linguística. Na abertura, são apresentados ainda os campos de atuação social e os Temas Contemporâneos Transversais (TCTs) desenvolvidos com maior ênfase no capítulo. Há também o boxe Projeto em vista, com o objetivo de sugerir uma etapa da Oficina de Projetos para que o estudante possa desenvolvê-lo ao longo de todo o ano.
Estudo Literário: destinada ao estudo de textos e estéticas literárias, inicia-se por meio do boxe Primeiro olhar, para mobilizar conhecimentos prévios e hipóteses sobre o texto a ser lido. Segue-se a leitura do(s) texto(s) principal(is), as atividades de interpretação e o contexto literário, organizados por meio de subtítulos que identificam os assuntos e conteúdos desenvolvidos. Há um subtítulo fixo, A linguagem do texto, que, em diálogo com a seção Estudo da Língua, aborda alguns aspectos linguísticos que contribuem para a compreensão expressiva do texto estudado.
Oficina Literária: a seção é apresentada nos capítulos 2, 4 e 6 de cada volume. Nela, o estudante é motivado a praticar a escrita literária. Está organizada em cinco etapas: Estudar a proposta, Motivar a criação, Planejar e elaborar, Avaliar e recriar e Compartilhar.
Estudo do Gênero Textual: destinada à compreensão e à interpretação de gêneros textuais pertencentes a diversos campos de atuação social, essa seção também se inicia com o boxe Primeiro olhar, seguido pela leitura do texto principal e por questões de interpretação e estudo do gênero. As atividades são organizadas por meio de subtítulos fixos: Conteúdo do [gênero textual], Composição e contexto do [gênero textual]. O subtítulo A linguagem do texto também aparece nesta seção, de modo a contemplar os aspectos intrínsecos à estruturação do gênero textual.
Diálogos: subseção em que um novo texto motiva a comparação entre um aspecto relevante do texto principal, ligado ao assunto, à temática ou ao conteúdo literário. Ocorre tanto na seção Estudo Literário quanto na seção Estudo do Gênero Textual.
Estudo da Língua: aborda de forma sistematizada fenômenos linguísticos presentes nos textos principais do capítulo, ampliando-os para outros contextos e gêneros
27 BRASIL, ref. 2, p. 80.
28 JUBRAN, Clélia Spinardi (org.). A construção do texto falado. São Paulo: Contexto, 2019. (Gramática do português culto falado no Brasil, 1).
textuais, de modo a promover análises investigativas sobre esses fenômenos. Os subtítulos dessa seção não são fixos, seguindo a definição dos conteúdos escolhidos para a abordagem nos capítulos; no entanto, o subtítulo A língua em uso, cuja função é promover um diálogo entre a norma-padrão e a variação linguística, aparece de forma sistemática. Ao final, propõe-se a subseção Atividades, que possibilita ao estudante continuar a prática analítica de alguns dos fenômenos linguísticos estudados.

Oficina de Texto: presente em todos os capítulos, a seção tem como objetivo motivar o estudante a produzir gêneros escritos, orais e multimodais. Ela está organizada em cinco etapas: Estudar a proposta, Motivar a criação, Planejar e elaborar, Avaliar e recriar e Compartilhar.
Conexões com: relaciona um aspecto presente nos estudos de Língua Portuguesa a um componente curricular diverso para estabelecer uma abordagem interdisciplinar. Além de propor um diálogo interdisciplinar com componentes (História, Geografia, Matemática, Física, Biologia etc.) de outras áreas do conhecimento (Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas), há também propostas em diálogo com outros componentes da área de Linguagens e suas Tecnologias, como Inglês e Arte.
Estudo em Retrospectiva: a seção tem o objetivo de retomar os conteúdos mais importantes apresentados no capítulo de modo que o estudante tenha a possibilidade de avaliar seus conhecimentos ao final de cada capítulo.
De olho no Enem e Vestibular: apresenta atividades do Enem ou de vestibular relacionadas a um conteúdo estudado no capítulo. Nela, o estudante tem a oportunidade de colocar em prática seus conhecimentos e, ao mesmo tempo, familiarizar-se com os diferentes modelos de atividades de grandes exames nacionais.
Oficina de Projetos: a seção aparece ao final de cada um dos três volumes da coleção. O intuito é que os estudantes possam desenvolvê-lo ao longo do ano letivo, orientados pelo boxe Projeto em vista, presente na abertura dos capítulos, que visa orientar cada etapa do projeto a ser desenvolvido. O projeto apresenta uma proposta de aprendizagem ativa que busca integrar os conteúdos de cada capítulo com a prática de resolução de problemas de forma alinhada aos princípios do pensamento computacional. Além disso, tem como objetivo desenvolver habilidades fundamentais nos estudantes, como leitura crítica, interpretação de informações, argumentação e organização lógica do pensamento. É organizado pelas etapas a seguir.
• Estudar a proposta: etapa que apresenta o tema do projeto com base em um texto motivador seguido de questões.
• Buscar inspiração: etapa em que os estudantes serão incentivados a aprofundar os seus conhecimentos sobre o tema analisado e a iniciar a estruturação do produto final.
• Dividir tarefas e Empreender: etapa que organiza a execução do projeto, é dividida em partes específicas, encorajando o trabalho em equipe, o reconhecimento de prioridades e a distribuição de responsabilidades.
• Avaliar e Recriar possibilidades: nessa etapa, os estudantes são incentivados a refletir sobre o processo, identificar pontos fortes e aspectos que podem ser melhorados no produto final. Tem o objetivo de desenvolver o pensamento crítico e a capacidade de revisar e recriar soluções, considerando os desafios encontrados durante a execução.
• Vivenciar: a etapa consiste em apresentar e experienciar o produto final, consolidando o aprendizado de todo o processo.
Ao longo da coleção, também estão dispostos nos capítulos boxes que orientam, complementam, sistematizam e aprofundam conhecimentos.
• Refletir e argumentar: os estudantes são incentivados a expor pontos de vista sobre o assunto em foco, em discussões coletivas que fomentam o desenvolvimento da capacidade argumentativa.
• Conceito: sistematiza conceitos, fenômenos e outros aspectos teóricos construídos ao longo dos capítulos.
• Glossário: posicionado após quaisquer textos de terceiros, auxilia os estudantes na compreensão vocabular.
• Biografia: apresenta a vida e a obra de autores e artistas de obras e textos abordados, entre outras figuras públicas que sejam relevantes ao conteúdo.
• Retomada: aparece sempre que for necessário retomar algum conceito anteriormente abordado na própria coleção ou referente a um conhecimento prévio construído no Ensino Fundamental – Anos Finais. Na seção Oficina de Texto, no entanto, é fixo na etapa Planejar e elaborar, para retomar um conteúdo trabalhado nas seções.
• Buscar referências: tem como objetivo apresentar dicas de filmes, livros, sites, podcasts, entre outros artefatos culturais que possam incentivar os estudantes a ampliar seu repertório.
• Ampliar: esse boxe tem o objetivo de apresentar informações relevantes que possam ampliar o conhecimento dos estudantes.
• Entre gêneros : presente na seção de Estudo do Gênero Textual, tem como objetivo proporcionar
uma comparação entre gêneros que se mostrem semelhantes à primeira vista, mas que têm funções sociais e estruturas diversas.
• Mundo do trabalho: presente na seção de Estudo do Gênero Textual, promove uma busca ativa por profissões que estejam relacionadas à discussão da seção, para que os estudantes possam conhecê-las em seu conteúdo e área de atuação. Nesse boxe, eles também são incentivados a criar um portfólio coletivo de profissões para ser consultado pela turma.

A escola é um espaço essencial para a promoção da convivência com as diversidades. Nesse ambiente, além de desenvolverem habilidades acadêmicas, os estudantes se formam como cidadãos preparados para lidar com as diferenças sociais e culturais. A função social da escola ultrapassa a transmissão de conteúdos; ela é responsável por formar sujeitos capazes de conviver com a pluralidade, respeitar as diferenças e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Para que essa função se cumpra plenamente, é fundamental que o professor valorize cada estudante, considerando suas singularidades e trajetórias, de modo a garantir que todos se sintam acolhidos e reconhecidos.
Para isso, é importante favorecer o protagonismo dos estudantes, incentivando-os a participar ativamente da busca por soluções para desafios do mundo que os cerca. O aprendizado significativo não se encerra em respostas prontas, mas abre caminho para novas perguntas e para a construção permanente de conhecimentos. Assim, ao estimular o pensamento crítico, a empatia e a responsabilidade, a educação possibilita que os jovens se tornem agentes de transformação social.
O professor, nesse processo, além de um transmissor de conteúdos acadêmicos, é mediador e guia das aprendizagens, assumindo um papel essencial na condução de discussões, na promoção do diálogo e na manutenção do respeito mútuo. A relação pedagógica, quando marcada pelo reconhecimento da alteridade e pela escuta ativa, permite ao docente compreender o que motiva determinados comportamentos e ajudar os estudantes a se perceberem como agentes de mudança. Como aponta o professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (Feusp), Rinaldo Voltolini:
[…] O professor terá que considerar em seu ato as várias dimensões presentes na determinação do comportamento de seus alunos, em vários planos, numa visão complexificadora, uma vez que seu objetivo é o de produzir mudanças subjetivas no aluno […].
[…] Ou seja, para objetivar o professor tem que passar por sua subjetividade. […]29.
Para isso, em vez de adotar uma lógica centrada na culpabilização, que busca identificar as falhas individuais dos estudantes, cabe à escola promover uma lógica de corresponsabilidade, na qual professores e estudantes compreendam seu papel no processo educativo e se envolvam ativamente na construção do conhecimento. Assim, é importante que o professor busque uma didática que reconheça e respeite as diferenças, promovendo igualdade de oportunidades e vínculos de aprendizagem e reconhecendo os elementos contextuais que motivam determinados comportamentos. Esse movimento fortalece a confiança e o crescimento individual dos estudantes. Nesse processo, o livro didático se configura como uma ferramenta essencial de apoio ao professor na organização das atividades pedagógicas, e sua utilização pode ser pensada de modo a fomentar uma construção colaborativa entre docentes e estudantes.
Neste item, são apresentadas algumas estratégias didático-pedagógicas que visam um trabalho proficiente com as diversidades da escola: compreensão sobre a importância da metacognição como processo de ensino e de aprendizagem e formas de abordagem didáticas e metodológicas com estudantes de diferentes perfis.
A escola tem a responsabilidade social de orientar os estudantes não apenas na aquisição de conhecimento acadêmico mas também no desenvolvimento da capacidade de refletir sobre seus recursos e processos de aprendizagem. Essa habilidade é definida pelo pesquisador e psicólogo do desenvolvimento John Hurley Flavell da seguinte maneira: A metacognição se refere ao conhecimento que alguém tem sobre os próprios
29 VOLTOLINI, Rinaldo. Saúde mental e escola. In: SÃO PAULO (Estado). Secretaria Municipal de Educação. Coordenadoria Pedagógica. Núcleo de Apoio e Acompanhamento para Aprendizagem. Caderno de debates do NAAPA: questões do cotidiano escolar. São Paulo: SME: Coped: NAAPA, 2016. p. 81-96. p. 89. Disponível em: https://acervodigital.sme.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2022/03/Caderno_de_DebatesNAAPA1.pdf. Acesso em : 25 out. 2024.

processos e produtos cognitivos ou qualquer outro assunto relacionado a eles, por exemplo, as propriedades da informação relevantes para a aprendizagem. Pratico a metacognição […] quando me dou conta de que tenho mais dificuldade em aprender A que B; quando compreendo que devo verificar pela segunda vez C antes de aceitá-lo como um fato […]30.
A habilidade metacognitiva é fundamental para que o estudante aprenda a se reconhecer em constante processo de transformação, sendo capaz de identificar quando é necessário mudar estratégias e atitudes para alcançar determinados aprendizados. O desenvolvimento da metacognição envolve aprender a regular o uso de ecursos cognitivos e desenvolver a habilidade de planejar, monitorar e avaliar as próprias ações, de modo a identificar o que funciona e o que precisa ser ajustado ao executar determinada tarefa. A metacognição não se restringe ao contexto escolar, ela também é necessária em situações da vida cotidiana que exigem reflexão crítica e argumentação. Assim, ensinar a autonomia envolve instrumentalizar os estudantes para que assumam o protagonismo dos próprios recursos de aprendizagem, utilizando a reflexão como ferramenta de crescimento pessoal e acadêmico.
Para auxiliar no desenvolvimento da metacognição dos estudantes, o professor pode incentivar a reflexão acerca dos processos de aprendizagem, do funcionamento da memória e da identificação das potencialidades de cada estudante, valorizando a pluralidade de estilos de ensino a fim de criar oportunidades para que diferentes estilos de aprendizagem sejam respeitados e potencializados. Além disso, explicitar o propósito das aulas e os métodos utilizados pode tornar o aprendizado mais claro e significativo, uma vez que o estudante passa a entender como e por que determinada estratégia está sendo empregada, o que possibilita a elaboração de recursos internos de metacognição e mostra que a aprendizagem é um percurso contínuo, feito de planejamento, experimentação e ajustes.
O ambiente escolar apresenta caráter múltiplo e diverso. Em uma sala de aula, estudantes de diferentes perfis
estabelecem vínculos pessoais e de aprendizagem, e cabe ao professor reconhecer o modo como essas relações perpassam o processo de ensino-aprendizagem, a fim de promover uma educação inclusiva, tendo em vista que a presença da diversidade de perfis não é um desafio a ser superado, mas uma oportunidade de enriquecimento para toda a comunidade escolar. Cada estudante apresenta competências, dificuldades e interesses particulares que, quando são reconhecidos e instrumentalizados a favor da aprendizagem, facilitam a aquisição de conhecimento e contribuem para a participação ativa de todos. Isso implica que o professor não deve apenas reconhecer as dificuldades de aprendizagem dos estudantes mas também auxiliá-los a identificar suas facilidades e potencialidades.
Incorporar os interesses dos estudantes nas atividades, sejam elas individuais ou coletivas, é mais uma estratégia pedagógica que favorece a motivação e o engajamento. Nesse contexto, é importante que o professor configure vínculos baseados na confiança mútua, promovendo uma comunicação aberta e reflexiva com a turma. A sala de aula é um ambiente relacional, onde estudantes de diferentes perfis interagem entre si e com o professor, e essas interações são essenciais para o aprendizado.
O processo de ensino-aprendizagem implica um contínuo e profundo processo de relacionamento, no qual todos os aspectos analisados são constitutivos. Professor e estudantes devem compor um espaço relacional em que seja criada uma atmosfera de compromisso e responsabilidade, a fim de atingir os objetivos educativos. Negociações em sala de aula serão sempre necessárias, e a confiança mútua é uma âncora para o compartilhamento na produção do conhecimento e na processualidade do desenvolvimento subjetivo. Na negociação, os processos de comunicação têm um papel fundamental tanto para a emergência de novas realizações do conteúdo em foco como nas produções de sentido que irão articular e direcionar as diferentes dimensões do contexto do ensino e da aprendizagem.31
Desse modo, as relações sociais são fundamentais para que o processo de ensino-aprendizagem aconteça de maneira significativa e a sala de aula se configure como um espaço de vivências e dinâmicas sociais, onde estudantes e professores ocupem diferentes papéis e posições. Nesse sentido, reconhecer divergências entre os estudantes, mas também entre os objetivos, processos e
30 FLAVELL, 1976 apud PORTILHO, Evelise Maria Labatut. As estratégias metacognitivas de quem aprende e de quem ensina. In: MALUF, Maria Irene (coord.). Aprendizagem: tramas do conhecimento, do saber e da subjetividade. Petrópolis: Vozes; São Paulo: Associação Brasileira de Psicopedagogia, 2006. p. 48.
31 TACCA, Maria Carmen Villela Rosa. Relações sociais na escola e o desenvolvimento da subjetividade. In: MALUF, Maria Irene (coord.). Aprendizagem: tramas do conhecimento, do saber e da subjetividade. Petrópolis: Vozes; São Paulo: Associação Brasileira de Psicopedagogia, 2006. p. 64.

resultados das tarefas propostas pelo professor, é fundamental para ajustar a prática pedagógica. A compreensão das motivações dos estudantes e das situações em que o interesse pelo aprendizado diminui pode orientar melhor as estratégias de ensino. Perguntas como: “Por que determinado estudante age assim?”, “O que faz com que aprender deixe de ser interessante em certas circunstâncias?” e “Como os diferentes perfis de estudantes gostariam de aprender?” podem auxiliar o professor a refletir sobre o planejamento pedagógico. A conexão entre professor e estudante é o ponto de partida essencial para a aprendizagem, pois, para que o conhecimento se estabeleça, é necessário que haja comunicação consistente entre ambas as partes.
Nesta coleção, a concepção de avaliação segue os princípios da LDB, que compreende o processo avaliativo como uma verificação dos processos de aprendizagem dos estudantes, que possibilita também uma revisão sobre as próprias práticas docentes. A lei apresenta a avaliação nos seguintes termos:
Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns:
[…]
V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios:
a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais;
b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar;
c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado;
d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito;
e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos;32
As propostas avaliativas nesta coleção estão também embasadas nas seguintes teorias: nos conceitos de avaliação por competências apresentados pelo sociólogo suíço Phillipe Perrenoud em sua obra Construir competências desde a escola33; na concepção de saberes do cientista da educação espanhol Antoni Zabala, que, na obra A prática educativa: como ensinar34, define o saber (o qual corresponde aos conteúdos conceituais), o saber fazer (o qual corresponde aos conteúdos procedimentais) e o saber ser (que corresponde aos conteúdos atitudinais); e no processo avaliativo proposto pelos professores do Boston College, Michael K. Russel e Peter Airasian na obra Avaliação em sala de aula: conceitos e aplicações35, que é compreendido como processo, formação, desempenho e nota.
A avaliação diagnóstica pode ser compreendida como um processo de verificação dos conhecimentos prévios dos estudantes sobre um determinado assunto, sem o objetivo classificatório, e sim para identificar habilidades, competências, conteúdos e dificuldades a fim de possibilitar a elaboração de um planejamento mais adequado às necessidades do estudante e da turma.
Na coleção, a abertura dos capítulos e o boxe Primeiro olhar são uma oportunidade para aplicação da avaliação diagnóstica. Na abertura, por exemplo, a partir da leitura de uma imagem, são propostas questões reflexivas que acionam conhecimentos sobre os conteúdos que serão abordados no capítulo, ainda que de modo preliminar. Nas seções de Estudo Literário e Estudo do Gênero Textual, o boxe Primeiro olhar busca levantar as expectativas de leitura e pode também contribuir para a identificação de conhecimentos prévios sobre o que será estudado em cada uma das seções.
Outra importante estratégia avaliativa é a avaliação formativa, que tem como objetivo monitorar os estudantes durante o processo de aprendizagem, para que possam fazer uma correção de rota enquanto estão aprendendo, com base na prática de atividades complementares. Nesse sentido, as estratégias de avaliação formativa, nesta coleção, são intrínsecas às estratégias didáticas e metodológicas utilizadas para sua elaboração: os estudantes são conduzidos à aprendizagem por meio de atividades de interpretação de textos – tanto literários quanto não literários, pertencentes a diferentes gêneros – e de análise de fenômenos linguísticos, para só então conhecerem mais profundamente a teoria intrínseca a eles, como sua sistematização.
32 BRASIL, ref. 1.
33 PERRENOUD, Philippe. Construir as competências desde a escola. Tradução: Bruno Charles Magne. Porto Alegre: Penso, 1999.
34 ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Tradução: Ernani F. da F. Rosa. Porto Alegre: Artmed, 1998.
35 RUSSELL, Michael K.; AIRASIAN, Peter W. Avaliação em sala de aula: conceitos e aplicações. Tradução: Marcelo de Abreu Almeida. 7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.

As avaliações ipsativa, somativa e comparativa são sistematizadas na seção Estudo em Retrospectiva. A avaliação ipsativa se refere a um processo individual do estudante que compara seu desempenho no momento atual com o desempenho em um momento anterior do processo, com o objetivo de promover uma avaliação pessoal, visando a que o estudante supere seus próprios limites e dificuldades e valorizando, assim, seu progresso individual. Trata-se, portanto, de um processo autoavaliativo promovido na coleção pelo subtítulo Refletir e avaliar da seção Estudo em Retrospectiva, em que a cada capítulo os estudantes têm um espaço para refletir sobre seu próprio desempenho nas atividades coletivas e individuais e acompanhar sua evolução nesses quesitos, sem compará-los com outros estudantes ou expectativas externas de aprendizagem.
Os saberes desse processo, apresentados na coleção, corroboram com as premissas de Antoni Zabala sobre a função social do ensino, que visa a uma formação integral e […] não consiste apenas em promover e selecionar os ‘mais aptos’ para a universidade, mas […] abarca outras dimensões da personalidade. Quando a formação integral é a finalidade principal do ensino e, portanto, seu objetivo é o desenvolvimento de todas as capacidades da pessoa e não apenas as cognitivas, muitos dos pressupostos da avaliação mudam. Em primeiro lugar, e isto é muito importante, os conteúdos de aprendizagem a serem avaliados não serão unicamente conteúdos associados às necessidades do caminho para a universidade. Será necessário, também, levar em consideração os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais que promovam as capacidades motoras, de equilíbrio de autonomia pessoal, de relação interpessoal e de inserção social. […]36
A avaliação somativa é, em si, comparativa dos desempenhos individual e coletivo e comumente aplicada ao final de uma unidade de conteúdo, para verificar sua aprendizagem pelo coletivo; por isso, seus instrumentos costumam ser padronizados. Na coleção, o subtítulo Sintetizar da seção Estudo em Retrospectiva proporciona aos estudantes a possibilidade de responder a questões de checagem sobre os conteúdos do capítulo, correspondentes a cada seção. Essas questões podem ser realizadas todas em conjunto, ao final dos estudos do capítulo, ou em blocos referentes a cada seção, ao término de seu estudo.
36 ZABALA, ref. 34, p. 197.
A seção De olho no Vestibular ou De olho no Enem apresenta também atividades que possibilitam avaliação somativa e comparativa, tendo em vista sua abordagem comentada de questões de vestibulares e do Enem, cujo gabarito é oficialmente divulgado e, assim, permite que os estudantes possam comparar seus resultados em simulações desse exame e de provas de ingresso, aplicando os conhecimentos do capítulo.
O ato de planejar faz parte da prática docente de forma recorrente e cíclica. Isso porque se trata de uma ação essencial tanto para garantir a distribuição dos itens do currículo no tempo didático e letivo quanto para possibilitar o alcance de objetivos definidos para a aprendizagem dos estudantes, o que demanda a elaboração das métricas de avaliação já mencionadas em seus tipos e formatos.
Nesse sentido, são inúmeras as possibilidades de planejamento, o que coloca o professor em uma posição de questionamento sobre quais conteúdos abordar e que tempo destinar a cada um deles. A resposta a esse respeito não é óbvia, mas compreende-se que ela requer reflexão sobre as compreensões desejadas que os estudantes alcancem, ou seja, os objetivos de aprendizagem. Para planejar, é preciso ter clareza sobre essas aprendizagens e, assim, fazer escolhas sobre métodos, estratégias e materiais.
Nesse modelo, parte-se de uma identificação mais criteriosa dos resultados desejados, através da definição de aprendizagens prioritárias que levam em consideração objetivos e padrões curriculares nacionais, municipais e estaduais, para então fazer escolhas mais adequadas de conteúdo em relação ao tempo didático. Em seguida, determinam-se as evidências aceitáveis, que são as estratégias avaliativas – formais e informais – pensadas como viáveis ao contexto da turma e dos estudantes para validar suas aprendizagens. Por fim, procede-se ao planejamento das experiências de aprendizagem e instrução, que são as atividades de ensino mais adequadas para o alcance dos resultados definidos.
Assim, a elaboração de um plano de ensino requer que o professor se aproprie de dados do contexto da turma, das diretrizes político-pedagógicas da escola e das competências e habilidades que deseja que os estudantes alcancem de modo gradativo, ao longo dos bimestres, dos trimestres ou do ano.
Com base na premissa de um planejamento com foco em resultados, esta coleção propõe diversas estratégias e métodos que podem ser utilizados como parte das ferramentas docentes e entende que seu arranjo em um plano demandará a autonomia do professor e de seus objetivos em relação à realidade de cada uma das turmas. Ainda assim, propomos a seguir uma distribuição dos conteúdos do livro no tempo – o cronograma –, considerando cada uma de suas partes, como sugestão para a construção do plano de ensino pelo professor.

Literário: Quinhentismo
Diálogos: Expressão literária indígena Conexões com História: Formação dos quilombos no Brasil
do Gênero Textual: Roteiro de podcast
Estudo Literário: A ficção histórica no romance contemporâneo Diálogos: A ficcionalização da realidade em A confissão da leoa
Oficina Literária: Voz narrativa no romance
com Arte: O olhar sobre o indígena

* A seção De olho no Enem ou De olho no Vestibular poderá ser utilizada também como avaliação com a seção Estudo em Retrospectiva ou, ainda, pode ser pedida como lição de casa.
(página 8 a 43)
• Competências gerais: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10
• Competências específicas: 1, 2, 3, 4, 6 e 7

Habilidades de Linguagens: EM13LGG101, EM13LGG102, EM13LGG103, EM13LGG104, EM13LGG201, EM13LGG202, EM13LGG203, EM13LGG302, EM13LGG303, EM13LGG401, EM13LGG601, EM13LGG602, EM13LGG604, EM13LGG701, EM13LGG702 e EM13LGG704
Habilidades de Língua Portuguesa: EM13LP01, EM13LP02, EM13LP03, EM13LP06, EM13LP16, EM13LP30, EM13LP31, EM13LP42, EM13LP45, EM13LP46, EM13LP48, EM13LP49, EM13LP50 e EM13LP51
R econhecer as características da Literatura de Informação, bem como seu contexto de produção, por meio da leitura e análise do texto Carta ao rei D. Manuel, do autor português Pero Vaz de Caminha (1450-1500).
Identificar diferentes visões a respeito do processo de colonização por meio da literatura contemporânea indígena, representada por um poema do autor indígena Ailton Krenak.
Iden tificar as características do gênero textual podcast, aprofundando sua estrutura e sua relevância no meio jornalístico-midiático.
• Reconhecer os modos como o jornalismo pode ser uma ferramenta de divulgação científica
• Iden tificar alguns conceitos linguísticos fundamentais para o estudo da língua, como: língua e linguagem; os níveis de análise da língua – fonético-fonológico, morfológico, sintático, semântico e pragmático; enunciação, enunciado e enunciador; texto e interlocutor.
• Produzir um roteiro de podcast que responda à pergunta “O que é ciência?”.
• O capítulo se inicia com a análise de uma obra que serve como ponto de partida para discutir o multiculturalismo e a valorização das matrizes culturais brasileiras. Essa perspectiva permitirá que os estudantes reflitam sobre a importância da educação multicultural no contexto da diversidade histórica e cultural do Brasil. O capítulo vai permitir trabalhar aspectos do campo artístico-literário bem como do campo das práticas de estudo e pesquisa e abordar o TCT de Multiculturalismo: Educação para a valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais brasileiras.
• Sugere-se reservar um momento para que os estudantes observem a obra Yube Inu Yube Shanu [Mito do surgimento da bebida sagrada nixi pae]. Contextualizar a relação entre o coletivo Mahku e o esforço de preservação da cultura huni kuin. A bebida sagrada nixi pae é conhecida como ayahuasca e é utilizada em rituais de diferentes povos indígenas. É preciso que o tema seja tratado com respeito às diferentes práticas espirituais e religiosas, de modo a evitar sua banalização. Caso haja estudantes indígenas que conheçam a prática, convide-os a compartilhar suas experiências culturais.
• Para ampliar a discussão sobre a imagem em análise, sugere-se apresentar o mito que é tema da obra. Sugere-se como fonte o artigo indicado a seguir. MASP apresenta exposição do coletivo indígena Mahku, grupo de etnia huni kuin que vive no Acre. São Paulo: Paulista Cultural, 2023. Disponível em: www. paulistacultural.com.br/content/masp-apresenta -exposicao-do-coletivo-indigena-mahku-grupo-de-etnia -huni-kuin-que-vive-no-acre-. Acesso em: 1 out. 2024.
(página 10 a 18)
• R ecomenda-se coletar opiniões sobre as questões do boxe Primeiro olhar e anotar palavras-chave na lousa, pois elas servirão de referência para questões posteriores. Além de apontamentos gerais sobre a descrição do território e dos indígenas, espera-se que os estudantes comentem sobre estereótipos, configurando-se um momento oportuno para explicar a eles a associação entre preconceitos e estratégias de dominação – tema aprofundado no item O eurocentrismo na Literatura de Informação, na página 14.

(página 12 a 14)
5. A questão pode ser objeto de debate mais amplo entre os estudantes. É interessante revisitar trechos do texto para realçar os aspectos que lhe conferem qualidades literárias. Também sugere-se compará-lo com outros textos informativos nos quais tais recursos não são empregados. Recomenda-se selecionar um texto informativo que dialogue com o perfil da turma, para facilitar a compreensão. A carta de Caminha pode ser considerada um texto literário devido a vários aspectos que vão além de sua função informativa. Primeiramente, o autor utiliza uma linguagem descritiva e detalhada que, apesar de ser informativa, transmite vividamente as impressões e experiências da expedição, permitindo ao leitor imaginar o cenário descrito. Além disso, a carta emprega elementos estilísticos, como a escolha cuidadosa de palavras e a construção de imagens mentais, que enriquecem a narrativa. A presença de figuras de linguagem, como a hipérbole (exagero da descrição), também contribui para um efeito mais expressivo, refletindo a reação e a percepção do autor diante do território. Esses elementos ajudam a carta a ser apreciada não apenas como um documento histórico, mas também como uma obra com qualidades literárias.
6. b) Respostas pessoais. Espera-se que os estudantes reconheçam que, na percepção dos portugueses, os indígenas possivelmente não apresentavam estruturas hierárquicas em sua organização social, já que figuras de poder costumam ser reconhecidas por diferentes grupos. Também é possível que os
indígenas tivessem estrutura hierárquica, mas não identificaram o Capitão como um líder ou apenas não o distinguiram.
7. c) Respostas pessoais. Espera-se que os estudantes reconheçam que a explicitação do diálogo por meio de gestos é importante para evidenciar as diferenças linguísticas e sociais entre portugueses e indígenas. Isso colabora para o alcance do objetivo da carta, que é fornecer dados e evidências sobre o território e a população do Brasil. Já as informações sobre a interpretação dos portugueses, que se deu com base em suas pretensões, evidenciam as intenções colonizadoras e mercantilistas deles, que visavam ao lucro.
8. b) O autor evidencia que a religião cristã é necessária para qualquer povo e cultura. Além disso, ele evidencia acreditar que os indígenas não têm crenças espirituais nem religiosas ou, caso tenham, o autor não as legitima por serem diferentes da cultura e religião europeias. Com isso, Caminha expõe o ponto de vista de que os indígenas precisavam de ajuda para alcançar o céu cristão e a salvação.
(página 15 a 18)
• Recomenda-se realizar uma leitura coletiva dos boxes que compõem a seção antes de iniciar a análise do poema “Suspiro de Gaia”.
• A análise do poema “Suspiro de Gaia”, de Ailton Krenak, promove o trabalho com o TCT Multiculturalismo, propiciando aos estudantes a percepção de que a cultura e a história do Brasil não se resumem aos elementos de origem europeia e valorizando a produção cultural de diferentes povos indígenas e a reflexão sobre a luta deles por direitos. Outro ponto de análise do multiculturalismo é o fato de o autor ter utilizado um referencial da cultura ocidental para construção de seu texto: a divindade grega Gaia, a deusa da Terra. Sugere-se associar a inclusão desse referencial europeu no título do poema e o tema elaborado ao longo dos versos.
• S e considerar necessário, retome com os estudantes o conceito de verso, que corresponde a cada linha de um poema. A divisão do poema em versos tem por objetivo atribuir expressividade rítmica e
de rima, além de gerar efeitos sonoros e contribuir para a construção do sentido. Relembre também que a estrofe se refere a cada bloco de versos em um poema.
Indicações
• Ailton Krenak é uma referência na reflexão sobre o Brasil contemporâneo. Sugere-se aprofundar os conhecimentos acerca de suas ideias por meio de uma de suas entrevistas. Se considerar pertinente, compartilhe o vídeo com a turma.

AILTON Krenak | #Provocações. [São Paulo]: TV Cultura, [2019]. 1 vídeo (27 min). Disponível em: https://cultura. uol.com.br/videos/70402_ailton-krenak-provocacoes. html. Acesso em: 1 out. 2024.
A respeito do conceito de colonialidade, sugere-se consultar o artigo científico indicado a seguir.
TONIAL, Felipe Augusto Leques; MAHEIRIE, Kátia; GARCIA JÚNIOR, Carlos Alberto Severo. A resistência à colonialidade: definições e fronteiras. Revista de Psicologia da Unesp, Assis, v. 16, n. 1, p. 18-26, jan./jun. 2017. Disponível em: https://pepsic.bvsalud.org/ scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-90442017 000100002. Acesso em: 1 out. 2024.
2. a) Resposta pessoal. O objetivo da questão é retomar a discussão acerca do que é um texto literário, iniciada na seção anterior.
Várias características do gênero poema podem ser citadas, como: as palavras foram escolhidas com a intenção de provocar reflexões e sensações no leitor; o poema pode refletir o modo como o autor se relaciona com seu espaço social; estabelece relações de sentido com seu contexto de produção; entre outras possibilidades
2. b) Espera-se que os estudantes reconheçam as diferenças de utilização de linguagem entre os textos lidos, apontando, por exemplo, que o poema apresenta uma linguagem mais subjetiva, enquanto a carta apresenta uma linguagem mais objetiva. Aspectos como ritmo e rima do poema também podem ser apontados pelos estudantes. Finalmente, espera-se que os estudantes indiquem que a linguagem da carta é mais difícil, com palavras desconhecidas e com construções linguísticas diferentes daquelas a que eles estão habituados.
(página 18)
• A atividade propõe uma prática de pesquisa para refletir sobre a cultura oral e sua importância ao desenvolvimento das sociedades. Parte-se de um ponto de vista histórico, para, em seguida, ampliar o olhar à observação antropológica proporcionada pela leitura de textos e de imagens. Os textos listados expõem, respectivamente, sociedades brasileiras indígenas ágrafas e um povo habitante da África Austral, cuja cultura se mantém praticamente intacta tal como de seus antepassados.
• A a tividade de pesquisa da questão 7 possibilita diferentes abordagens, podendo ser realizada dentro ou fora do espaço escolar. Sugere-se usá-la como ponto de partida para a realização da discussão proposta na questão 8. Nesse sentido, os estudantes podem apresentar sua pesquisa aos colegas e usá-la como fonte de dados e argumentos para responder à questão 8. Também é possível a elaboração de um painel na sala de aula ou nos corredores da escola, a fim de possibilitar a interação com o restante da comunidade escolar. Nesse caso, é necessário listar os materiais a serem usados, como papel Kraft, cola, tesoura e impressões em papel sulfite de trechos das pesquisas.
• Sugere-se que se faça um processo de pesquisa-piloto com os estudantes. Se possível, acesse a internet com eles e aborde o uso de plataformas e demais tecnologias de pesquisa, realçando a importância do uso de palavras-chave e comandos bem estruturados. Lembre-os de que existem diversos tipos de fonte disponíveis, de produções acadêmicas e jornalísticas às de curiosos, mostrando indicadores que podem ajudar a aferir a qualidade de uma determinada fonte. Aponte que a preferência deve ser dada a materiais jornalísticos e acadêmicos, pois passam por maiores testes de qualidade. É bem-vinda a exploração de podcast s de Antropologia, História e áreas relacionadas à cultura como fontes de informação, já que tendem a apresentar uma linguagem ágil que amplia as possibilidades de diálogo com os conhecimentos produzidos por especialistas.

7. c) Os textos expõem sociedades brasileiras indígenas ágrafas e um povo habitante da África Austral, cuja cultura se mantém praticamente intacta tal como de seus antepassados. O objetivo desses textos é apresentar aos estudantes exemplos de culturas ágrafas que se mantêm através dos tempos, para incentivá-los a buscar outras referências. Os san, também conhecidos como bosquímanos, são o povo mais próximo das representações rupestres, e seu legado é representado por imagens, sons e registros audiovisuais. Comunicam-se através da língua !kung, que tem características fonéticas particulares, como um clique produzido com o palato, a língua e a garganta.
(páginas 19 e 20)
Sugere-se trabalhar a leitura do texto retomando as discussões sobre contracolonialidade propostas nas questões do boxe Refletir e argumentar , na página 17, e o poema “Suspiro de Gaia”, na página 15. Nota-se que a História leva em conta tanto a construção da análise sobre o passado quanto uma reflexão sobre o presente. Neste Capítulo, é apresentada uma abordagem interdisciplinar, que fornece novos conhecimentos sobre a formação multicultural do Brasil e tensionando o discurso colonizador. Nesse sentido, o poema “Suspiro de Gaia”, o posicionamento de Antônio Bispo dos Santos sobre contracolonialidade e a análise de Beatriz Nascimento articulam-se em uma perspectiva crítica ao discurso eurocêntrico sintetizado pelo texto Carta ao rei D. Manuel
1. a) O primeiro dado apresentado pela historiadora que possibilita tal associação é a coincidência de datas, já que ambos os movimentos acontecem entre o final do século XVI e início do século XVII. Outros dados indicados são a nominação dos chefes.
2. b) Para apoiar a resolução do item, sugere-se conferir as definições de estudo historiográfico propostas nos links a seguir.
BEZERRA, Juliana. Historiografia . [ S. l. ]: Enciclopédia Significados, c2011-2024. Disponível em: www.significados.com.br/historiografia/. Acesso em: 1 out. 2024.
MARTINS, Estevão C. de Rezende. História, historiografia e pesquisa em educação histórica. Educar em Revista , Curitiba, v. 35, n. 74, p. 17-33, mar./abr. 2019. Disponível em: www.scielo.br/j/ er/a/76nr3hq9SHcQcLVWqXYZRMr/#ModalHowci te. Acesso em: 1 out. 2024.
2. c) Espera-se que os estudantes compreendam que há uma relação direta entre a falta de estudo teórico sobre os quilombos e o racismo. Caso algum estudante não compreenda essa relação, recomenda-se explicar que, no campo da História, muitas vezes os acontecimentos são contados pelo ponto de vista das sociedades dominantes, e cabe aos historiadores contemporâneos revisitarem a história em busca de outras perspectivas.
3. a) Para além de seu significado dicionarizado, no qual se associam depressão e nostalgia, o conceito de banzo pode ser pensado como uma síntese da experiência de escravização. Essa experiência articula os efeitos de um sistema político, econômico e social de objetificação e exploração na vida do indivíduo. Para ampliar os conhecimentos a respeito, sugere-se a leitura do artigo indicado a seguir. ODA, Ana Maria Galdini Raimundo. Escravidão e nostalgia no Brasil: o banzo. Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental, São Paulo, v. 11, n. 4, p. 735-761, dez. 2008. Suplemento. Disponível em: www.scielo.br/j/rlpf/a/XsH4RvsyCmxJzydsfgTgvKS/ ?lang=pt#. Acesso em: 12 set. 2024.
3. b) A autora apresenta um posicionamento crítico sobre o modo como os quilombos eram estudados. Espera-se que os estudantes reconheçam que a autora utiliza a expressão como modo de valorizar os conhecimentos desse povo, trazendo seu linguajar para o meio acadêmico.
(página 21 a 30)
• O trabalho com o gênero podcast e seu roteiro é uma importante janela ao multiletramento dos estudantes. Na seção, em uma perspectiva geral, os estudantes irão ouvir e ler um podcast, entender o seu conceito e analisar a sua estrutura. Por fim,

na seção Oficina de Texto, os estudantes poderão aplicar esses conhecimentos na produção de um podcast próprio.
• Por se tratar de um gênero oral, sugere-se que o episódio a ser trabalhado na seção seja ouvido pelos estudantes. Portanto, caso a escola disponha de computadores, indica-se que seja organizada uma aula dedicada à escuta do episódio, ou de um trecho dele, seguida da leitura do roteiro. Durante esse momento, procure chamar a atenção dos estudantes para os aspectos orais do gênero textual, que serão retomados ao longo da seção. O episódio “A ciência é para todos”, quinto programa da quarta temporada do podcast Ciência Suja, pode ser acessado em: www. cienciasuja.com.br/temporada-4/a-ci%C3%AAncia -%C3%A9-para-todos (acesso em: 1 out. 2024).
O episódio tem como ponto de partida um encontro promovido pelo Instituto Serrapilheira, instituição privada e sem fins lucrativos, que objetiva promover a ciência no Brasil. São fornecidas mais informações sobre o instituto na atividade 8, na página 27, que articula o tema do roteiro de podcast ao contexto do instituto. É válido trabalhar o contexto de produção do podcast com os estudantes depois de ouvirem as falas iniciais do programa. Caso considere pertinente, sugere-se apresentar o site da organização à turma: https://serrapilheira.org/ (acesso em: 1 out. 2024).
A seção apresenta o boxe Mundo do trabalho , página 26. Nesta proposta, os estudantes serão incentivados a pesquisar duas profissões pouco conhecidas: o pedólogo e o etnopedólogo. O objetivo é que eles possam entrar em contato com as atividades associadas à profissão, para reconhecerem possibilidades de carreira de acordo com seus interesses. Para realizar a atividade proposta, sugere-se dividir a turma em grupos e pedir aos estudantes que pesquisem aspectos das profissões citadas, tais como: atividades, formas de ingresso no mercado de trabalho, salário médio e campos de conhecimento envolvidos. Com a pesquisa feita, os estudantes devem compartilhar os resultados e montar um mural, físico ou virtual, para armazenar as informações sobre as profissões. Para construir um mural virtual, sugere-se o aplicativo Padlet (disponível em: https://padlet.com; acesso em: 1 out. 2024). Instrua os estudantes sobre o uso da versão gratuita desse aplicativo. Esse procedimento pode ser repetido a
cada ocorrência do boxe Mundo do trabalho neste volume, de modo que os estudantes tenham, ao fim do ano, um mural com diferentes profissões.
• A terceira questão do boxe Primeiro olhar inicia a diferenciação entre conhecimento científico e saberes tradicionais. Espera-se que parte dos estudantes tenha dificuldade em estabelecer hipóteses sobre o tema. Sugere-se que seja pedido a eles que anotem suas respostas no caderno, ainda que elas sejam superficiais. Na atividade 3, página 24, o tema será retomado e aprofundado. Nessa ocasião, indica-se confrontar as hipóteses criadas no boxe Primeiro olhar com as novas respostas fornecidas para a atividade.
(página 25)
4. c) Na fotografia, o conhecimento científico é representado pelo pedólogo, que faz a medida do solo. O saber tradicional, por sua vez, é representado pelos membros da comunidade. Os dois saberes aparecem em comunhão, pois todos parecem participar da cena. Espera-se que os estudantes também percebam como a figura do Victor é representativa dessa união, pois, além de ser da comunidade, ele está sendo orientado pelo pedólogo.
4. d) Victor Junior Lima Felix é um pesquisador indígena paraibano, do povo potiguara, que tem mestrado e doutorado em Ciência do Solo pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Ele gosta de se denominar como etnopedólogo, profissional da pedologia que une estudos convencionais do solo com a participação direta da comunidade local. A fotografia mostra não só um pedólogo em exercício, o que se relaciona à pesquisa de Victor, mas também membros da comunidade potiguara, incluindo ele mesmo, o que reforça sua identidade.
5. a) Indicação do início do episódio: letras maiúsculas, sinais, negrito. Indicação dos elementos sonoros: letras maiúsculas, sinais, negrito. Indicação da fala dos apresentadores: letras maiúsculas, negrito, dois-pontos. Indicação da fala dos convidados: letras maiúsculas, negrito.
5. b) Organizar o roteiro do podcast para que a equipe entenda a entrada de cada indicação – como os nomes dos participantes do podcast, os elementos sonoros, o início ou a finalização de segmentos,
entre outros –, pois esses textos destacados servem como guia para os que precisam acompanhar o roteiro durante a gravação.
5. c) Todos os nomes das pessoas que aparecem no podcast são grafados em letras maiúsculas e negrito. Os nomes dos apresentadores, no entanto, aparecem acompanhados de dois-pontos e na mesma linha das falas, já os nomes dos participantes convidados aparecem na linha acima de sua fala e sem dois-pontos. Chame a atenção dos estudantes para a indicação diferente de cada função: apresentadores e participantes convidados.

(páginas 29 e 30)
É impor tante enfatizar aos estudantes que, na comunicação, as escolhas do emissor do texto dependem de diferentes fatores, como objetivos da comunicação, público-alvo, meio de propagação, conteúdo e intenções comunicativas. Nesse sentido, indica-se abordar como o discurso jornalístico e o científico são diferentes entre si, pois respondem a contextos diferentes de produção. Sugere-se reforçar que, apesar das diferenças, o intercâmbio entre as áreas é importante e que o jornalismo científico é essencial para a divulgação de informações científicas ao grande público.
(página 31 a 39)
Língua e linguagem
Respostas e comentários
2. Nessa atividade, os estudantes deverão concatenar o conteúdo visual das imagens com os conhecimentos adquiridos previamente na discussão do verbete Língua , do Dicionário de linguística , apresentado anteriormente, na página 31. Leia as três afirmações com os estudantes referenciando cada uma das imagens. Depois que os estudantes realizarem a tarefa, repasse cada uma das alternativas e explique por que a afirmação a está incorreta.
• O texto indicado a seguir apresenta mais definições dos conceitos de língua e linguagem. C ASTILHO, Ataliba T. de. O que se entende por língua e linguagem? [São Paulo]: Museu da Língua Portuguesa, [201-]. Disponível em: www. museudalinguaportuguesa.org.br/wp-content/ uploads/2017/09/O-que-se-entende-por-l í ngua -e-linguagem.pdf. Acesso em: 1 out. 2024.
(páginas 32 e 33)
• A atividade 3 propõe a análise da língua em seu uso real, contemplando o fato de o Brasil ser considerado um país multilíngue. Após propor a realização da questão, leia a definição de multilinguismo com os estudantes e esclareça eventuais dúvidas. Sugere-se que os itens sejam resolvidos em dupla, a fim de proporcionar o trabalho colaborativo.
Indicações
• O ar tigo científico indicado a seguir traz informações sobre os motivos pelos quais o Brasil deve ser considerado um país multilíngue.
FERRAZ, Aderlande Pereira. O panorama linguístico brasileiro: a coexistência de línguas minoritárias com o português. Filologia e Linguística Portuguesa, [s. l.], n. 9, p. 43-73, 2007. Disponível em: www.revistas. usp.br/flp/article/view/59772. Acesso em: 1 out. 2024.
(páginas 36 e 37)
Leitura complementar
• Sobre o conceito de enunciado, o filósofo da linguagem russo Mikhail Bakhtin (1895-1975), preconizador do conceito de gêneros textuais, explica que:
Todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da linguagem. […] O emprego da língua efetua-se na forma de enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. Esses enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de cada referido campo não

só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, pela seleção de recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua, mas, acima de tudo, por sua construção composicional. Todos esses três elementos – o conteúdo temático, o estilo, a construção composicional – estão indissoluvelmente ligados no todo do enunciado e são igualmente determinados pela especificidade de um determinado campo da comunicação. Evidentemente, cada enunciado particular é individual, mas cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso.
BAKHTIN, Mikhail. Os gêneros do discurso. In: BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. Tradução: Paulo Bezerra. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 261-262.
8. c) Solicita-se aos estudantes que realizem uma pesquisa na internet sobre as visões positiva e idealista da ciência. Se possível, sugere-se que a pesquisa seja realizada na internet e com diretrizes para saber quais sites podem ser considerados confiáveis.
(páginas 40 e 41)
A proposta prevê a circulação dos episódios em alto-falantes na escola, no entanto, caso não haja infraestrutura para essa finalidade, sugere-se verificar a possibilidade de organizar um espaço com uma caixa de som e cartazes de divulgação do podcast, para que os estudantes possam transmitir os episódios na hora do intervalo.
• R ecomenda-se orientar os estudantes na composição do roteiro, indicando que, a depender do formato escolhido, o texto do roteiro precisa ser mais extenso. Por exemplo, um podcast de entrevista precisa de algumas perguntas demarcadas e poucas observações; um podcast narrativo, por outro lado, normalmente necessita de um texto que será lido pelo apresentador.
(páginas 40 e 41)
• I nforme aos estudantes que o tempo de cada episódio deverá ser planejado considerando a possibilidade de reproduzir pelo menos três podcasts durante o intervalo entre as aulas.
• Toda pesquisa deve ser realizada em fontes confiáveis, de veículos de informação que trabalham em prol da divulgação de informações apuradas e verdadeiras. Portais oficiais, sites do governo, páginas de universidades, entre outros, oferecem boas fontes de conhecimento.
2. Auxilie os estudantes a organizar as ideias, para definir o formato de podcast que esteja mais adequado a eles. Caso eles tenham dificuldades para pesquisar as informações, considere propor um momento de discussão coletiva sobre os conteúdos. Relembre-os de que, no contexto escolar, é possível entrevistar especialistas sobre o assunto, como professores de Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Linguagens. Relembre-os da importância da ciência linguística para a investigação e a preservação do funcionamento das línguas.
6. Se julgar necessário, retome o conteúdo estudado a respeito das marcas de oralidade no texto escrito, apresentadas no subtítulo A linguagem do texto, nas páginas 28 e 29.
Toda pesquisa deve ser realizada em fontes confiáveis, como veículos de informação que trabalhem em prol da divulgação de informações apuradas e verdadeiras. Portais oficiais, sites do governo e páginas de universidades, entre outros, oferecem boas fontes de conhecimento. Nesse sentido, sugere-se que sejam indicadas fontes iniciais de pesquisa, como as listadas a seguir.
• CHIBENI, Silvio Seno. O que é ciência? [Campinas]: Unicamp, [201-]. Disponível em: www.unicamp. br/~chibeni/textosdidaticos/ciencia.pdf. Acesso em: 1 out. 2024.
• UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE. Centro de Formação de Professores. O que é ciência? Cajazeiras: CFP, 4 dez. 2018. Disponível em: https:// cfp.ufcg.edu.br/portal/index.php/textos-de-divulga cao/425-o-que-e-ciencia. Acesso em: 1 out. 2024.
recriar
(página 41)
• O objetivo desta etapa é que os estudantes possam praticar formas autônomas de avaliar os textos elaborados; por isso, sugere-se que haja supervisão dos trios apenas para checagem do cumprimento das etapas de autoavaliação. No entanto, se considerar necessário, faça a retomada coletiva desses itens; assim, será possível esclarecer dúvidas que possam surgir no processo.

(página 41)
Para a divulgação na escola, é possível criar QR Codes com os links para acesso aos podcasts e espalhar esses códigos pela escola; assim, cada estudante, com seu celular, poderá acessar os episódios. Também é possível divulgar esses links nas mídias sociais da escola ou por mensagens digitais. Enfatiza-se, nessa etapa, pensar sobre a melhor maneira de fazer esse conteúdo chegar à comunidade escolar.
Para criar os QR Codes, sugere-se utilizar uma ferramenta gratuita, como o https://qrcodefacil.com (acesso em: 1 out. 2024).
(página 42)
Sintetizar
Respostas e comentários
2. A leitura dos textos literários desenvolvida no Capítulo permite a divisão dos pontos de vista em uma vertente colonizadora e outra pautada pela contracolonialidade. O texto Carta ao rei D. Manuel sintetiza o projeto colonizador europeu em que o território brasileiro é visto como uma fonte de
riquezas e os indígenas são colocados como seres inferiores e objeto de dominação. Por outro lado, o texto literário indígena organiza-se no eixo da contracolonialidade, problematizando os prejuízos causados pelo projeto colonizador a indígenas e demais grupos minoritários e ao meio ambiente.
4. Os podcasts desempenham um papel importante no meio jornalístico-midiático ao democratizar o acesso à informação. Eles facilitam a divulgação de informações científicas e de outros conteúdos complexos de forma didática, traduzindo temas específicos para o público não especialista.
5. Embora os níveis de análise da língua possam ser estudados em conjunto por estarem inter-relacionados e se complementarem, cabe entender cada um deles. O nível fonético-fonológico opera com base na Fonética, que estuda os sons da língua quanto à sua produção e percepção, e na Fonologia, que analisa os fonemas – unidades sonoras que podem diferenciar significados entre palavras. O nível morfológico examina a forma e a estrutura das palavras, seus processos de formação e as classes gramaticais. O nível sintático examina a organização das palavras em frases e orações para criar sentido; também analisa como as orações se relacionam dentro de um texto, garantindo coerência e coesão. O nível semântico estuda os significados dos enunciados em contextos específicos, identificando os efeitos de sentido que eles produzem. O nível pragmático analisa o contexto da comunicação e a situação em que ocorre a enunciação.
(página 42)
• Possibilite aos estudantes momentos de silêncio e introspecção para que possam relembrar seu desempenho nas propostas do Capítulo. Com base em sua observação dos estudantes e das particularidades de cada um, ajude-os a construir, na coluna de observações, estratégias para avançar em pontos necessários.
(página 44 a 83)
• Competências gerais: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 e 10

Competências específicas: 1, 2, 3, 4, 6 e 7
Habilidades de Linguagens: EM13LGG101, EM13LGG102, EM13LGG103, EM13LGG104, EM13LGG105, EM13LGG201, EM13LGG202, EM13LGG203, EM13LGG204, EM13LGG301, EM13LGG302, EM13LGG303, EM13LGG304, EM13LGG401, EM13LGG601, EM13LGG604, EM13LGG701, EM13LGG702, EM13LGG703 e EM13LGG704
Habilidades de Língua Portuguesa: EM13LP01, EM13LP02, EM13LP03, EM13LP06, EM13LP11, EM13LP12, EM13LP14, EM13LP15, EM13LP18, EM13LP28, EM13LP29, EM13LP30, EM13LP31, EM13LP34, EM13LP44, EM13LP45, EM13LP46, EM13LP48, EM13LP49, EM13LP52 e EM13LP54
I dentificar as principais características do Classicismo e do Humanismo com base no estudo de um trecho de Os Lusíadas, do autor português Luís Vaz de Camões.
Identificar características formais de poemas com base no estudo de Os Lusíadas e de um poema do autor indígena Tiago Hakiy.
Produzir um poema.
Identificar as características do gênero textual infográfico, com foco na linguagem utilizada em sua composição.
• Reconhecer o uso do hipertexto e os sentidos que ele acrescenta a um texto.
• Analisar o uso de figuras de linguagens em textos de diferentes gêneros.
• Utilizar a gramática visual para interpretar textos de diferentes gêneros.
• Produzir um infográfico que apresente a cultura e o modo de vida do povo sateré-mawé.
(páginas 44 e 45)
• O bioma amazônico é parte da temática da obra do artista indígena Joseca Mokahesi Yanomami, além de estar presente em diversas discussões realizadas no Capítulo. Caso seja necessário, sugira aos estudantes que pesquisem as características gerais desse bioma em sites confiáveis.
• Su gere-se reservar alguns minutos para que os estudantes entrem em contato com a obra de abertura do Capítulo. Nesse momento, contextualize que ele é da etnia yanomami e que suas obras são modos de traduzir a cosmologia de seu povo em narrativas visuais.
• O texto indicado a seguir traz mais informações sobre o artista e sua obra.
JOSECA Mokahesi Yanomami. [São Paulo]: Millan, [20--]. Disponível em: https://millan.art/artistas/ joseca-mokahesi-yanomami/. Acesso em: 2 out. 2024.
3. Indica-se retomar conhecimentos prévios sobre poemas para incentivar os estudantes a refletir sobre a questão, ressaltando a grande possibilidade de temas e expressões que a obra traz. O poema “Canto de floresta” na seção Diálogos, nas páginas 52 e 53, é uma ótima referência à reflexão. Auxilie-os a imaginar de que forma o desenho de Joseca Mokahesi Yanomami poderia ser transformado em um poema. Se julgar pertinente, é possível realizar um exercício de composição poética com a turma, prática que será aprofundada na seção Oficina Literária do Capítulo.
4. Resposta pessoal. Incentive os estudantes a perceber que o desenho de don Abel contribui para a manutenção e a transmissão dos conhecimentos da comunidade da qual o artista faz parte para outros povos. Na seção Estudo do Gênero Textual , a contribuição do texto multimodal para a disseminação do conhecimento será estudada por meio da análise do gênero textual infográfico.
(página 46 a 56)
• A máquina do mundo , tema abordado no boxe Primeiro olhar e aprofundado ao longo do Capítulo, é um conceito de grande tradição na literatura. Essa figura é apresentada em textos de autores greco-romanos e é retomado até por autores modernistas e concretistas, como Carlos Drummond de Andrade (1902-1987) e Haroldo de Campos (1929-2003). Recomenda-se fazer uma leitura coletiva do “Canto X” de Os Lusíadas , explorando a sonoridade do texto. Reserve momentos de pausa para explorar o vocabulário e recapitular as cenas.

C aracterísticas, conceitos gerais e hipóteses de leitura sobre Os Lusíadas e Camões podem ser retomados com a leitura do artigo indicado a seguir.
FELIPE, Cleber Vinicius do Amaral. Os lusíadas, 450 anos depois: hipóteses de leitura. História da Historiografia, Ouro Preto, v. 15, n. 40, p. 87-115, set./dez. 2022. Disponível em: www.historiadahistoriografia.com.br/ revista/article/view/1929. Acesso em: 18 set. 2024. Conheça mais sobre Vasco da Gama, um importante personagem das Grandes Navegações.
MOSTEIRO DO JERÓNIMOS & WIKIPÉDIA. Siga os caminhos do Vasco da Gama. [S l.]: Google Arts & Culture, [2024]. Disponível em: https://artsandculture. google.com/story/JAWh48CZfQq8IQ?hl=pt/PT.
Acesso em: 13 set. 2024.
Os Lusíadas e a filosofia humanista
(página 47 a 50)
• Após a leitura do poema, sugere-se que os estudantes tentem responder às questões 1 e 2 revisitando o “Canto X” de acordo com suas necessidades. Nas demais questões, retome os conceitos desenvolvidos nos boxes da seção, articulando-os com Os Lusíadas.
1. b) O conceito de máquina do mundo vem da cosmovisão greco-romana e remete à compreensão do universo como algo harmônico e ordenado.
• Para saber mais sobre o modo como o conceito de máquina do mundo é abordado na literatura, sugere-se o artigo a seguir.
HANSEN, João Adolfo. Máquina do mundo. Teresa, São Paulo, v. 1, n. 19, p. 295-314, 2018. Disponível em: https://revistas.usp.br/teresa/article/view/149115. Acesso em: 18 set. 2024.
4. c) A questão sintetiza a emergente visão renascentista de desenvolvimento do indivíduo e da razão dentro dos limites respaldados pelo Deus cristão. Assim, Vasco da Gama e seus feitos são possíveis porque ocorrem dentro de uma lógica de expansão do cristianismo.
(página 50 a 52)
• D. Sebastião é uma personalidade presente nas aulas de História sobre o contexto que originou a União Ibérica (1580-1640). Sugere-se que seja realizada uma pesquisa sobre o tema como modo de retomar e aprofundar o conteúdo. Se possível, é interessante realizar a pesquisa de modo interdisciplinar em parceria com o professor de História. Os dados coletados devem ser utilizados na resolução do item 8. c).
• Na discussão sobre rima e métrica, na página 51, recomenda-se a reprodução da primeira estrofe do “Canto X” no quadro e a realização da escansão de forma coletiva. Esse procedimento será útil na resolução da atividade 9. Se considerar pertinente, explique aos estudantes que as junções entre vogais são contadas como uma só sílaba poética porque correspondem a uma única emissão sonora. O mesmo ocorre na junção de duas consoantes iguais. Observe o exemplo de escansão a seguir.
1 De/pois/que a/cor/po/ral/ne/ce/ssi/da/de (A)
2 Se/sa/tis/fez/do/man/ti/men/to/no/bre, (B)
3 E/na har/mo/nia/e/do/ce/sua/vi/da/de (A)
4 Vi/ram/os/al/tos/fei/tos/que/des/co/bre, (B)
5 Té/tis,/de/gra/ça or/na/da e/gra/vi/da/de, (A)
6 Pa/ra/que/com/mai/s al/ta/gló/ria/do/bre (B)
7 As/fes/tas/des/te a/le/gre e/cla/ro/di/a, (C)
8 Pe/ra o/fe/li/ce/Ga/ma a/ssim/di/zi/a: (C)
• No contexto discutido, o Império português passou por inúmeras transformações, passando por um processo de incorporação ao Império Espanhol chamado de “União Ibérica”. Caso julgue necessário, consulte a obra a seguir.
C AMPOS, Flavio de. História Ibérica : apogeu e declínio. São Paulo: Contexto, 1991.

8. b) Resposta pessoal. Sugestão de resposta: Exortando D. Sebastião, a dedicatória realça a grande extensão do Império português e seu papel na expansão do cristianismo, enfatizando seu combate aos não cristãos: “Vós, que esperamos jugo e vitupério / Do torpe ismaelita cavaleiro, / Do turco oriental e do gentio / Que inda bebe o licor do santo rio:”.
8. c) A história de D. Sebastião marca a decadência do projeto expansionista do império. Combatendo o domínio muçulmano no norte da África, o rei desaparece na batalha de Alcacér-Quibir. Com isso, Portugal entrou em uma crise que resultou na União Ibérica (1580-1640). Como seu corpo não foi localizado, D. Sebastião tornou-se uma figura lendária cujo retorno é entendido como a volta dos dias de glória de Portugal.
Diálogos
(página 52 a 56)
A seção envolve discussões relacionadas aos TCTs Multiculturalismo e Meio ambiente. Se na perspectiva europeia das Grandes Navegações, inseridas na lógica mercantilista, a natureza era vista como um recurso a ser explorado e transformado em riqueza à disposição do Estado, na perspectiva indígena contemporânea a natureza serve de ambiência à comunhão do ser humano com as vidas vegetal e animal ao seu redor, às relações culturais e à preservação das tradições de um determinado grupo.
Indicações
• Acompanhe a entrevista para entender como Tiago Hakiy pensa o ser indígena, a literatura e o meio ambiente no caminho a seguir.
HAKIY, Tiago. A poesia é tão farta que só falta você colher. [Entrevista cedida a] Jullie Pereira. Itaú Social, [s. l.], 24 out. 2022. Disponível em: https://www.itausocial. org.br/noticias/a-poesia-e-tao-farta-que-so-falta-voce -colher/. Acesso em: 14 set. 2024.
4. Resposta pessoal. Sugestão de resposta: A expansão marítima, muito valorizada durante o Renascimento, ocasionou a conquista territorial por meio de embates violentos que resultaram na dizimação dos povos indígenas. Além disso, houve o apagamento de conhecimentos tradicionais e a destruição de modos de vida sustentáveis. No poema “Canto de Floresta”, busca-se a valorização do conhecimento indígena e o respeito à forma harmônica de se relacionar com a natureza. A exploração desenfreada ameaça não apenas o meio ambiente, mas também as tradições culturais que dependem dele, resultando em uma perda inestimável de sabedoria ancestral e de biodiversidade.
• Para facilitar a produção textual, sugere-se indicar aos estudantes ferramentas on-line para ajudá-los na escansão dos versos, como a página Aoidos (disponível em: https://aoidos.ufsc.br/; acesso em: 18 set. 2024), criada por pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
• Com o objetivo de guiar os alunos na criação de poemas com métrica regular, abordando a relação entre diferentes formas de conhecimento no mundo contemporâneo, pode-se seguir os passos de estudar a proposta: revisão do conceito de métrica usando Canto X de Os Lusíadas relacionando com o tema proposto; motivar a criação a partir do incentivo a releitura do poema e a reflexão sobre a métrica; planejar e elaborar: auxílio na definição da métrica, no planejamento da temática e na escolha de palavras que mantenham a regularidade métrica; avaliar e recriar com uma revisão baseada em perguntas-chave, é possível realizar trocas entre pares para revisão com foco na reescrita; e compartilhar pela organização da apresentação dos poemas e promoção de uma roda de conversa sobre o processo criativo.
(página 58 a 69)
• I nfográfico é um gênero textual no qual informações complexas são organizadas de maneira acessível ao leitor por meio da interação entre as linguagens verbal (textos, títulos e subtítulos) e não verbal (grafismos, cores, ilustrações, mapas e gráficos), que guiam o leitor estruturando a compreensão do conteúdo. Ao explorar os elementos visuais e verbais, o infográfico não apenas orienta o fluxo da leitura, mas também destaca as informações mais relevantes. O uso de cores, quadros e gráficos sinaliza a hierarquia de ideias, enquanto blocos de texto oferecem explicações que complementam os elementos visuais.

Sugere-se iniciar a aula com a leitura coletiva do infográfico “De onde vem o guaraná. E onde ele é produzido”. Ressalte a importância das ilustrações, uma vez que elas também são responsáveis por acrescentar sentidos aos textos. Peça aos estudantes que reflitam sobre como o conteúdo do infográfico está relacionado com a preservação do legado indígena e com a utilização de saberes tradicionais.
(páginas 61 e 62)
Sugere-se enfatizar a importância de uma leitura atenta, que compare estratégias, recursos visuais e informações expostas nos textos escritos. Pode-se explicar que as cores são usadas para destacar as informações e os conteúdos, predominando o verde e o vermelho que são as cores das folhas e do fruto do guaraná.
Indicações
• Indica-se o texto a seguir do linguísta José Luis Fiorin (1942-) que trata dos textos verbais e não verbais. FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação. 17. ed. São Paulo: Ática, 2007.
3. Linha fina é a frase ou período que aparece abaixo do título de uma notícia e funciona como subtítulo.
O tema será aprofundado no Capítulo 3.
9. b) Recomenda-se incentivar os estudantes a analisar as ilustrações em um infográfico, pois elas também são responsáveis por acrescentar sentidos ao texto.
Composição e contexto do infográfico
(página 62 a 64)
• Neste conjunto de atividades, os estudantes irão explorar tanto os elementos verbais quanto os não verbais presentes no infográfico sobre o guaraná, aprofundando sua compreensão sobre como essas linguagens interagem para comunicar informações complexas.
• Na atividade 12, os estudantes começarão a interpretar os quatro gráficos que compõem o infográfico com a história do guaraná. Pode-se explicar que os gráficos são usados para apresentar dados de forma visual resumindo grandes quantidades de informação de maneira clara e que cada tipo de gráfico serve para apresentar um determinado tipo de informação. A análise de gráficos será retomada na seção Conexões com Matemática, nas páginas 70 e 71.
12. b) Caso os estudantes sintam dificuldade em classificar os tipos de gráfico, conhecimento normalmente adquirido ao longo do Ensino Fundamental – Anos Finais, peça auxílio ao professor da área de Matemática e suas Tecnologias. Outra opção é acessar o site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), indicado adiante.
12. e) Comentar com os estudantes a importância de fazer uma leitura atenta de cada detalhe do gráfico em comparação com as informações presentes no texto escrito, para reconhecer as diferenças entre eles com base nos recursos (linguísticos e visuais) utilizados por cada um.
• Esta página do portal IBGE Educa oferece materiais educativos que explicam os diversos tipos de gráficos. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Principais tipos de gráficos para a educação básica. [Rio de Janeiro]: IBGE Educa, c2024. Disponível em: https://educa.ibge.gov.br/professores/educa -recursos/20773-tipos-de-graficos-no-ensino.html. Acesso em: 18 set. 2024.
(páginas 64 e 65)
• Pode-se explicar aos estudantes que os elementos verbais são importantes para contextualizar o infográfico, apresentando explicações, legendas e detalhes que ajudam na compreensão das informações visuais. Já os elementos não verbais, por meio de gráficos, diagramas, ícones e cores tornam o conteúdo mais atraente e facilitam a assimilação da informação. Além disso, a distribuição espacial dos elementos não verbais facilita a leitura e guia o olhar de forma natural e hierárquica.

(página 66 a 69)
Sugere-se iniciar o estudo da subseção explicando aos estudantes que a presença de hipertexto é a principal diferença entre os textos de internet e os textos encontrados em livros, revistas e jornais impressos. Nos livros tradicionais, a leitura segue uma estrutura linear e fixa, pois, ao virar as páginas, o leitor segue uma sequência estabelecida de eventos ou ideias, sem desvios. Por sua vez, o hipertexto oferece uma leitura mais interativa e dinâmica, pois ele permite que o leitor explore várias conexões dentro do conteúdo, por meio do clique em palavras ou imagens, também chamados de hiperlinks, que oferecem informações complementares.
Pode-se realçar aos estudantes que o guaraná não é apenas uma planta comercialmente importante, mas também parte central da identidade e da cultura dos sateré-mawé. Estimule os estudantes a refletir sobre como culturas diferentes podem se conectar a elementos naturais não apenas como recursos econômicos, mas como símbolos culturais. Você pode inclusive propor uma discussão sobre a distinção entre o guaraná tradicional dos sateré-mawé e o guaraná de produção comercial. Questione os estudantes sobre o que define a qualidade de um produto e como o conhecimento tradicional pode influenciar no valor de um produto no mercado.
Indicações
• I ndica-se o texto da linguista Ingedore Koch (1933-2018) que, com base nas principais
características do hipertexto, discute a construção do sentido.
KOCH, Ingedore. G. Villaça. Hipertexto e construção do sentido. ALFA: revista de Linguística, São Paulo, v. 51, n. 1, p. 23-38, 2007. Disponível em: https://periodicos. fclar.unesp.br/alfa/article/view/1425. Acesso em: 19 set. 2024.
2. b) São informações apresentadas pelo infográfico:
1: o povo sateré-mawé foi responsável por domesticar o guaraná;
2: habitam o Amazonas e o Pará;
3: o cultivo e o comércio do guaraná são os elementos centrais de sua história;
4: falam a língua tupi;
5: são conhecidos como “filhos do guaraná”.
2. c) A leitura do hipertexto indicado no infográfico amplia o conteúdo possibilitando o acesso a novas informações sobre o povo sateré-mawé e aprofundando os conteúdos que já haviam sido apresentados no infográfico.
5. b) Pode-se orientar os estudantes quanto à análise de confiabilidade de fontes, considerando o contexto de pesquisa, que envolve o ponto de vista da história indígena. Nesse sentido, ajude-os a selecionar fontes cuja elaboração e curadoria seja feita por antropólogos e tenha participação indígena. Como ponto de partida, indica-se o texto a seguir.
FIGUEROA, Alba Lucy Giraldo. Guaraná, a máquina do tempo dos sateré-mawé. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, Belém, v. 11, n. 1, p. 55-85, jan./abr. 2016. Disponível em: www. scielo.br/j/bgoeldi/a/C4LL4YppwFDcYJsVHgMTbjj. Acesso em: 19 set. 2024.
• Na terceira questão do boxe Refletir e argumentar da página 69, considerar as respostas pessoais. Alguns argumentos a favor das agroflorestas podem ser utilizados, como: a diversidade de espécies, que aumenta a resiliência biológica contra variações climáticas; o custo com insumos, que diminui com o tempo; e um mercado consumidor cada vez mais inclinado a optar por produtos mais saudáveis e sustentáveis. Além disso, é interessante que o questionamento leve os estudantes a refletir sobre investimentos financeiros e ações sustentáveis, lembrando que os investimentos sustentáveis são aqueles que não tem como critério principal o retorno financeiro, mas sim as questões
ambientais e sociais. Como desvantagens, é possível citar: alto investimento financeiro; competição entre as espécies por radiação, nutrientes e água; possíveis desequilíbrios que podem ocasionar enfermidades; e dificuldade de mecanização das atividades.
(páginas 70 e 71)

A seção propõe a resolução de uma questão do Enem que envolve um gráfico de função de 1o grau, permitindo uma reflexão que enfatiza a lógica da resolução mais do que a aplicação de fórmulas e cálculos complexos. Sugere-se que a atividade seja realizada em parceria com o professor de Matemática.
I ndica-se realizar uma leitura detida da situação-problema exposta na questão, que estabelece uma relação entre o tempo de acionamento da torneira e a quantidade de água liberada. Para o melhor andamento da resolução, realce a importância da expressão volume de água acumulado no comando.
S obre a atividade proposta no boxe Mundo do Trabalho , sugere-se dividir a turma em grupos e pedir que pesquisem sobre a profissão cientista de dados, considerando aspectos como: atividades, formas de ingresso no mercado de trabalho, salário médio e campos de conhecimento envolvidos. Com a pesquisa feita, os estudantes compartilharão os resultados em um mural na sala de aula ou em um mural virtual. Para produzir o mural virtual, sugere-se o uso do Padlet (disponível em: https://padlet.com; acesso em: 19 set. 2024).
Passo 2: a) Se os gráficos apresentassem título, esse seria outro elemento a ser analisado. Nesse caso, seria importante verificar a presença de título em todos os gráficos e a similaridade entre eles. No caso de gráficos com títulos diferentes, seria importante identificar aquele que mais se aproximasse da função do gráfico, ou seja, da representação de dados que ele pretende mostrar visualmente.
• Passo 2: c) Resposta: O que é medido (grandeza)?: Eixo das ordenadas: volume de água; Eixo das abscissas: tempo. Unidade de medida: Eixo das ordenadas: litros; Eixo das abscissas: segundos. Escala dos eixos: Eixo das ordenadas: não há; Eixo das abscissas: de
0 a 12, de 1 em 1. É importante atentar para o fato de que não há escala no eixo das ordenadas, o que significa que a quantidade de volume de água não é um fator importante para a resposta da questão, mas a contagem de tempo sim.
• Passo 2: d) O volume de água (em litro) acumulado no ciclo de liberação de água da torneira inteligente ao longo de 12 segundos.
• Passo 3: a) A alternativa d. Entre 3 e 8 segundos, a torneira está desligada; logo, o volume total de água que foi liberado nos três primeiros segundos irá permanecer constante até que se inicie o segundo ciclo de liberação de água. Isso quer dizer que, nesse intervalo de tempo, o gráfico será um segmento de reta paralelo ao eixo das abscissas, que representa o tempo transcorrido.
• Passo 3: b) As alternativas a, c e e, porque, no intervalo em que a água é interrompida, seus gráficos retornam à marcação 0 do eixo das ordenadas, mas o correto seria pensar em uma reta ascendente ou constante.
(página 72 a 79)
Figuras de palavras
(página 72 a 74)
• O conteúdo da seção tem relação com o que foi trabalhado no item A linguagem do texto, da seção Estudo Literário, nas páginas 55 e 56. Sugere-se retomar esse conteúdo revisando o significado de sentido conotativo e sentido denotativo, essenciais para a compreensão das figuras de linguagem.
(página 75)
• Para resolver a atividade 8, sugere-se organizar os estudantes em duplas e possibilitar a eles que pesquisem em bancos de imagem gratuitos, em seus próprios dispositivos móveis ou no laboratório de informática da escola. Caso os estudantes não encontrem boas opções de imagens ou a pesquisa na internet não seja viável, peça que eles mesmos produzam as imagens.

• Na realização da atividade 9, indica-se ajudar os estudantes a decidir que tipo de postagem irão produzir, preferencialmente, de acordo com o formato demandado por alguma rede social oficial da escola. Postagens requerem uma legenda, mas, nesse caso, oriente-os a criar apenas uma hashtag coletiva para que a atividade mantenha o objetivo de inferir metáforas em imagens, sem a presença de textos explicativos. Hashtags são palavras-chave inseridas nas postagens antecedidas pelo sinal cerquilha (#), com o objetivo de relacionar diversas postagens a uma mesma palavra e, assim, possibilitar que se encontrem postagens semelhantes por meio da inserção do termo no campo de busca das redes sociais.
Gramática visual
(página 75 a 77)
O estudo do item Gramática visual amplia as discussões em uma perspectiva associada ao multiletramento dos estudantes. Assim, por meio dessa discussão, eles serão convidados a refletir sobre a comunicação para além da linguagem escrita. O desenvolvimento da gramática visual torna-se especialmente importante no contexto digital em que os estudantes consomem e produzem textos multimodais e informações são comunicadas, muitas vezes, por imagens.
A s questões propostas reforçam aos estudantes como a escolha de imagens para a comunicação deve ser respaldada por uma reflexão acerca de seu fundamento cultural e pela percepção de que determinados códigos e sentidos não são comuns a todas as culturas.
Para aprofundar os estudos sobre a leitura de imagens e a gramática visual sob a perspectiva da análise do discurso, recomenda-se a leitura da dissertação de mestrado indicada a seguir.
BÜHLER, Rosilma Diniz Araújo. Gramática visual: uma leitura de imagens em material didático de línguas alemã e inglesa. Dissertação (Mestrado em Linguística) – Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2009. Disponível em: https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/ tede/6502?locale=pt_BR. Acesso em: 19 set. 2024.
11. b) A primeira imagem poderia estar afixada em estabelecimentos que tenham ligação com a cultura islâmica e recebam frequentadores que se identifiquem com ela. A segunda imagem é condizente com locais mais descontraídos, associados à cultura pop
(páginas 78 e 79)
3. c) Espera-se que os estudantes compreendam que o crítico estava errado, pois Rachel de Queiroz utiliza um recurso de expressividade figurativa para conotar o modo como a camisa estava entreaberta, deixando o peito à mostra, enfatizando o conteúdo (o peito) pela continente (a camisa), tratando-se, portanto, de uma metonímia.
4. b) Observa-se que há uma remissão ao padrão de cores da logomarca no canto superior esquerdo, onde está localizado o endereço gov.br, e no banner intermediário, que faz referência às ações do Ministério da Educação, portanto, relacionadas diretamente a essa gestão.
4. c) O diálogo entre a logomarca e a página de abertura do site indicam a integração entre os ministérios sob a liderança do Poder Executivo; assim, compreende-se que há um trabalho alinhado em busca de objetivos comuns. A diversidade de cores aponta a proximidade do governo com as questões de diversidade LGBTQIAPN+, além de os pontos de intersecção entre as letras R, A e S indicarem a necessidade de união entre todas as pessoas para que haja a reconstrução do país, o que é reforçado também pela silhueta dos adolescentes que integram o banner do programa Escolas das Adolescências.
4. d) Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes reconheçam a intenção de criar representatividade entre o programa e seus usuários, já que, segundo dados do Censo Demográfico de 2022, 55,5% da população brasileira se reconhece como negra (preta ou parda). Fonte de dados: BRASIL. Ministério da Igualdade Racial. Informe MIR: monitoramento e avaliação. Brasília, DF: MIR, 2022. p. 5. Disponível em: www.gov.br/igualdaderacial/ pt-br/composicao/secretaria-de-gestao-do-sistema -nacional-de-promocao-da-igualdade-racial/ diretoria-de-avaliacao-monitoramento-e-gestao -dainformacao/informativos/Informe-edicao-censo -demogrfico2022.pdf. Acesso em: 30 ago. 2024.
4. e) Respostas pessoais. É possível que os estudantes apontem que os pontos de intersecção entre as letras, que misturam as cores, não resultam nas cores corretamente mescladas, a exemplo do L, em que amarelo com azul deveria resultar na cor verde, e não em cinza. Outro ponto que poderia ser levantado é a referência aos blocos de montar infantis, a que as letras remetem, que podem transmitir a ideia de que o país não seja sério.

(páginas 80 e 81)
Para a realização da oficina de produção de infográfico, lembre aos estudantes que toda pesquisa deve ser realizada em fontes confiáveis, provenientes de veículos de informação que trabalham em prol da divulgação de informações apuradas e verdadeiras. Portais oficiais, sites do governo e páginas de universidades, entre outros, oferecem boas fontes de conhecimento.
Também sugere-se reforçar a necessidade de retomada dos pontos já estudados sobre o gênero infográfico, lembrando aos estudantes a importância da união de elementos verbais e não verbais no infográfico e que sua estrutura não apenas orienta o fluxo da leitura, mas também hierarquiza as informações.
É per tinente que os grupos elaborem perguntas para nortear a pesquisa sobre os sateré-mawé. Estes são alguns exemplos: quem são? Em quais regiões vivem? Quais atividades econômicas desenvolvem? Como influenciam a cultura brasileira? Quais são suas principais características culturais? Quais são os dilemas que enfrentam atualmente?
• A reunião preliminar de informações é fundamental para a tomada de decisões posteriores, permitindo a reflexão sobre a melhor forma de combinar textos e imagens na hora de apresentar os dados.
• É impor tante decidir qual a forma de divulgação do infográfico. Caso exista a possibilidade, os estudantes podem criar os infográficos no computador, por meio de sites e aplicativos, e utilizar recursos de hipertexto.
• Na impossibilidade do uso de recursos digitais, os infográficos podem ser feitos em uma cartolina. Oriente os estudantes a elaborar o rascunho do infográfico em uma folha, para que eles visualizem a disposição das informações antes de finalizá-lo digital ou manualmente.
• Infográficos estáticos podem ser exibidos em murais ou áreas de grande circulação da escola, enquanto infográficos animados ou interativos podem ser divulgados nas redes sociais da escola, no site da instituição ou em um blogue da turma.
Refletir e avaliar
• Reserve alguns minutos de introspecção aos estudantes para que eles possam refletir sobre as rubricas e sua trajetória ao longo do caminho. Nesta proposta, é essencial incentivar os estudantes a refletir de forma fiel a jornada desenvolvida até aqui e em busca de elementos e estratégias para a continuidade de seus estudos. Caso julgue pertinente, aponte pontos de aprimoramento coletivos.
• É importante que os alunos releiam os conteúdos, se necessário, e respondam às questões utilizando suas próprias palavras, sintetizando de forma clara. O quadro de autoavaliação no caderno deve ser preenchido com uma reflexão sobre seu desempenho, identificando dificuldades e progressos. Por fim, a orientação inclui promover uma conversa em grupo para discutir estratégias de aprimoramento e compartilhar impressões sobre os conteúdos aprendidos.
(página 83)
• O trabalho com questões discursivas de vestibular exige organização e foco para a retomada de conteúdos relevantes e para a estruturação de textos. Reforce a importância da concentração e aponte que suas respostas devem ser diretas e objetivas, evitando detalhes e estruturas desnecessárias ou que possam confundir a leitura do avaliador.
(página 84 a 125)
Competências e habilidades do Capítulo

Competências gerais: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10
Competências específicas: 1, 2, 3, 4, 6 e 7
Habilidades de Linguagens: EM13LGG101, EM13LGG102, EM13LGG103, EM13LGG104, EM13LGG105, EM13LGG201, EM13LGG202, EM13LGG203, EM13LGG204, EM13LGG301, EM13LGG302, EM13LGG303, EM13LGG304, EM13LGG401, EM13LGG402, EM13LGG601, EM13LGG602, EM13LGG604, EM13LGG701, EM13LGG702, EM13LGG703 e EM13LGG704
Habilidades de Língua Portuguesa: EM13LP01, EM13LP02, EM13LP03, EM13LP04, EM13LP06, EM13LP07, EM13LP09, EM13LP10, EM13LP11, EM13LP12, EM13LP14, EM13LP15, EM13LP17, EM13LP18, EM13LP24, EM13LP27, EM13LP30, EM13LP36, EM13LP37, EM13LP38, EM13LP39, EM13LP41, EM13LP43, EM13LP45, EM13LP46, EM13LP48, EM13LP49, EM13LP50 e EM13LP52
Reconhecer as características da primeira geração do Romantismo brasileiro, com base na leitura de poemas do autor maranhense Gonçalves Dias.
I nvestigar as características que compõem a identidade da mulher indígena na poesia contemporânea com base em um poema da autora indígena Eliane Potiguara.
• Descrever os elementos constitutivos e o contexto de circulação do gênero textual notícia
• Associar as características do gênero textual notícia ao gênero textual web story, com base em suas semelhanças e diferenças.
• A nalisar os principais marcos históricos que revelam a formação da língua portuguesa como a conhecemos.
• Produzir uma web story sobre o tema “representatividade feminina no setor cultural”.
(páginas 84 e 85)
• Sugere-se explicar aos estudantes que, na fotografia em ângulo baixo, o fotógrafo não captura as imagens da perspectiva usual, frontal, mas foca o elemento a ser retratado com a câmera voltada para cima, precisando abaixar-se para obter a imagem. Desse modo, o elemento retratado não apenas parece maior, como a imagem fornece mais informações.
(página 86 a 97)
• No boxe Primeiro olhar, na página 86, é importante incentivar os estudantes a refletir sobre o modo como os padrões de beleza estabelecem hierarquias ou padrões sociais. O tema será aprofundado ao longo da seção.
• Na primeira questão do boxe Primeiro olhar , é esperado que o estudante responda que a jovem indígena não tenha traços fenotipicamente associados às mulheres indígenas como: cor de pele morena, cabelos lisos, grossos e pretos, olhos amendoados, porte atlético e estatura baixa ou média.
• Na segunda questão, espera-se que o estudante diga que o fato de a jovem não se encaixar nos padrões de beleza seja percebido de forma negativa, pois quebra com as expectativas relacionadas a valores culturais, saúde física e/ou espiritual. Além de poder romper com certa conexão com a identidade cultural, integração com a comunidade ou remeter a influências externas que podem ser malvistas pelo seu povo.
(página 88 a 90)

• As características dos poemas da primeira geração romântica estão explicadas no boxe Conceito, na página 88. Se considerar pertinente, aproveite a atividade para explicar aos estudantes a diferença entre literatura indianista, indigenista e indígena. Enquanto a literatura indianista explora uma visão idealizada e estereotipada do indígena (obras como I-Juca-Pirama, de Gonçalves Dias), a literatura indigenista insere o indígena como protagonista (obras como Macunaíma, de Mário de Andrade). Enquanto as produções literárias indianista e indigenista são produzidas por autores não indígenas, as produções da literatura indígena são de autores indígenas, como o poema “Brasil”, de Eliane Potiguara, que será abordado adiante.
Respostas e comentários
5. c) Espera-se que os estudantes discutam que é possível atribuir características nacionalistas e até mesmo ufanistas ao poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, embora com algumas ressalvas em relação ao ufanismo.
O poema reflete o nacionalismo romântico, uma das principais correntes literárias da época em que foi escrito. Os poetas da época buscavam construir e afirmar uma identidade nacional distinta da portuguesa e europeia em geral. No caso do poema, evidenciando-se em: exaltar a terra natal, diferenciar o nacional do estrangeiro e valorizar a identidade brasileira.
O ufanismo pode ser entendido na idealização nacional, apesar de não se dar de forma exagerada ou hiperbólica.
Gonçalves
(página 90 a 92)
• Na página 92, o boxe Ampliar trata sobre a prosa romântica. Sugere-se informar que os folhetins têm semelhanças com as séries televisivas da atualidade, como o fato de serem apresentados em capítulos curtos que geram a expectativa de saber a continuação da história. O tópico pode ser discutido em roda de conversa, a fim de facilitar a compreensão dos estudantes desse gênero textual literário. Se
considerar pertinente, traga trechos de outros exemplos da prosa romântica a fim de aumentar o debate.
8. a) Os versos têm medidas diferentes. Enquanto o verso “Eu vivo sozinha; ninguém me procura” apresenta 11 sílabas poéticas (Eu/vi/vo/so/zi/nha/ nin/guém/me/pro/cu/ra), o verso “— Tu és, me responde” (Tu/és/me/res/pon/de) apresenta 5 sílabas poéticas, por exemplo.
8. b) Sim. As estrofes se alternam em estrofes de seis versos e estrofes de quatro versos. Exceto pelas duas últimas estrofes que apresentam quatro versos em sequência. Nas estrofes de quatro versos, o eu lírico fala da beleza de seus atributos físicos; nas estrofes de seis versos, o eu lírico fala da rejeição desses mesmos atributos por parte dos homens de seu povo. Nas últimas duas estrofes de quatro versos, o eu lírico intensifica o seu lamento, reconhecendo que seu destino é não realizar o amor e permanecer sozinha.
8. c) Sugere-se que, para fazer a atividade, os estudantes sejam organizados em grupos, de modo que consigam perceber a musicalidade do poema e discutir os sentidos que ela acrescenta ao texto. O poema apresenta cadência rítmica que, por vezes, se repete mais de uma vez no mesmo verso. Ao marcar bem as sílabas tônicas, será possível perceber que elas ocorrem nas sílabas 2 e 5; quando o verso é maior, há marcação também na 8 e na 11.
9. b) As falas dos homens indígenas são marcadas majoritariamente pelo uso de aspas.
9. c) Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes compreendam que essa diferenciação ajuda a distinguir quem está falando e evidencia o contraste entre as expressões dos homens indígenas e as de Marabá.
10. a) Espera-se que os estudantes percebam que, nas falas de Marabá, são feitas reiteradas comparações de suas características físicas com elementos belos da natureza, a fim de enaltecer a própria beleza na busca de ser aceita pelo seu povo.
10. d) Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes compreendam que as falas de Marabá e as falas dos homens indígenas formam um diálogo que reflete o conflito do poema, estabelecendo uma dinâmica de tentativa de aceitação por parte de Marabá e de rejeição de suas características físicas por parte dos homens indígenas.
11. c) Indica-se explicar aos estudantes a diferença entre as pessoas do discurso: quem está à frente do ato comunicativo. Enquanto a primeira pessoa (eu) indica que o sujeito que fala participa do acontecimento, a terceira pessoa (ele) indica que o sujeito que fala relata um acontecimento relacionado a outra pessoa.
(página 93 a 97)

Ao trabalhar o boxe conceito sobre Refrão, na página 95, é possível solicitar que os estudantes identifiquem refrões em outros poemas ou mesmo em músicas. Pode-se pedir que os estudantes discutam em grupo e encontrem uma ou duas canções que todos conheçam e gostem para identificarem e analisarem seu refrão, observando as características de reforço da ideia central da canção e/ou criação de ritmo pela regularidade sonora.
(página 97)
Ao apresentar o boxe Conceito, pode-se mencionar que o Nheengatu é também conhecido como língua geral amazônica, uma língua indígena que se desenvolveu a partir do tupi antigo, usada pelos povos indígenas da região amazônica e por colonizadores portugueses no Brasil colonial. O termo nheengatu significa “língua boa” ou “língua clara”. Ela surgiu como uma forma de comunicação entre diferentes povos indígenas e os colonizadores, facilitando o contato e a evangelização. E é um exemplo de como as línguas indígenas influenciaram a formação cultural e linguística do Brasil, e é considerada uma língua viva, com falantes principalmente na região do Rio Negro, no Amazonas.
Indicações
• B ons dicionários apresentam a etimologia da palavra, mas você pode indicar aos estudantes dicionários etimológicos. Dentre eles, destacam-se o Dicionário Etimológico Resumido e o DELPo, um projeto de dicionário etimológico da USP, surgido em 2012.
NASCENTES, Antenor. D icionário Etimológico Resumido. Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Livro, 1966. Disponível em: https://archive.org/details/ DICIONARIOETIMOLOGICORESUMIDODA LINGUAPORTUGUESAANTENORNASCENTES/page/ n15/mode/2up. Acesso em: 11 set. 2024.
DELPO. São Paulo, [202-]. Site. Disponível em: https:// delpo.prp.usp.br/. Acesso em: 11 set. 2024.
10. O objetivo dessa atividade é despertar nos estudantes a percepção do processo de formação da língua portuguesa falada no Brasil, por meio da identificação de vocábulos da língua tupi incorporados ao português brasileiro. Para auxiliar o processo, é possível indicar algumas palavras que fazem parte da língua portuguesa e têm influência direta do tupi, como: arara, capim, jacaré, pipoca, tatu , abacaxi, pororoca , catapora, gambá , paraná e piranha . Sugere-se organizar a turma em grupos, que deverão levantar diferentes vocábulos de origem tupi para compor um glossário único da turma. Para evitar repetições, indica-se que a organização das palavras elencadas seja realizada em um software de edição de textos.
10. b) Se necessário, auxilie os estudantes na pesquisa das palavras e na elaboração dos textos explicativos.
10. c) Sugerem-se os bancos de imagem gratuitos, como: Pixabay (disponível em: https://pixabay.com/ pt/; acesso em: 17 set. 2024) e Freepik (disponível em: https://freepik.com/; acesso em: 17 set. 2024).
Se necessário, auxilie os estudantes a reconhecer as imagens livres de pagamento, que estão disponíveis sem a necessidade de login, inserção de dados e cobrança. Chame a atenção dos estudantes para a necessidade de mencionar os créditos das imagens ao lado delas ou nas legendas das postagens, pois, ainda que não tenham direitos financeiros, elas têm direitos morais de autoria.
10. d) Caso não seja possível utilizar o editor de textos de forma colaborativa, sugere-se que os estudantes usem folhas sem pauta para criar verbetes ilustrados, que podem ser espalhadas em murais.
(página 98 a 110)

• Na pr imeira pergunta do boxe Primeiro olhar, na página 98, atente para os caminhos escolhidos pelos estudantes para se informarem sobre assuntos e criações artístico-culturais, tendo em mente que textos jornalísticos confiáveis são veiculados em diversos meios, além de serem compartilhados em redes sociais. Averigue se a turma consegue identificar o gênero textual notícia, considerando o conhecimento adquirido sobre o tema no Ensino Fundamental – Anos Finais.
Na segunda pergunta do boxe Primeiro olhar, vale ressaltar que, em órgãos de comunicação social, o jornalismo cultural ocupa pouca centralidade se comparado aos campos de atuação jornalística dedicados a outras áreas temáticas, como política, ciência, esporte, economia ou mercado financeiro e cotidiano – este último, por si só, costuma englobar temas como urbanismo, violência, saúde pública e administração pública.
1. b) É possível que os estudantes tenham mudado de ideia depois de ler a notícia relacionada ao universo artístico e cultural.
3. d) Para chegar a essa informação, é importante que os estudantes pesquisem em fontes confiáveis. Dois caminhos são possíveis: o primeiro é acessar o portal Katahirine (disponível em: https://katahiri ne.org.br/; acesso em: 27 set. 2024), encontrar o endereço eletrônico da rede (redekatahirine@gmail. com) e entrar em contato para obter a informação; o segundo caminho é buscar outras notícias sobre o lançamento e conferir a data que aparece nelas, como o exemplo a seguir.
INSTITUTO Catitu lança Katahirine: rede audiovisual das mulheres indígenas. [Rio Branco]: SOS Amazônia, 26 abr. 2023. Disponível em: https:// sosamazonia.org.br/tpost/cscbrughk1-instituto -catitu-lana-katahirine-rede-au. Acesso em: 17 set. 2024.
5. b) Incentive os estudantes a argumentar com base em fatos e informações apresentadas no próprio texto da notícia. Recomenda-se analisar a força dos argumentos desenvolvidos por eles e a capacidade de dialogar com aqueles que têm opiniões diferentes.
(página 101 a 105)
• No boxe Título da notícia, na página 101, oriente a turma a respeito da estratégia de compor todo o texto da notícia e, só então, pensar no título. Isso permite uma compreensão mais clara e precisa do conteúdo, pois, ao finalizar a redação, o jornalista consegue identificar os principais pontos e a essência da matéria, evitando ambiguidades que um título escrito antes poderia gerar. Além disso, essa abordagem possibilita a criação de um título mais atraente e alinhado ao estilo e tom do texto, destacando os elementos mais impactantes da notícia. O conhecimento completo da narrativa também proporciona uma oportunidade para refinamento, garantindo que o título ressoe com o tema abordado e atraia a atenção do leitor de maneira eficaz.
6. b) Caso os estudantes respondam com as palavras cineastas, mulheres e indígenas (além de primeira), a resposta pode ser considerada correta.
7. c) Esclareça à turma que a notícia foi escrita por um veículo do Grupo Globo, a revista Vogue, e, portanto, não precisa respeitar os critérios do jornal Folha de S.Paulo
• O texto a seguir explica, sob um olhar técnico, a teoria por trás da pirâmide invertida.
GENRO FILHO, Adelmo. O segredo da pirâmide ou a essência do jornalismo. In: GENRO FILHO, Adelmo. O segredo da pirâmide: para uma teoria marxista do jornalismo. Porto Alegre: Tchê, 1987. Disponível em: www.adelmo.com.br/bibt/t196-09.htm. Acesso em 17 set. 2024.
• Ao tratar o boxe Conceito na página 106, indica-se ressaltar que não existe impessoalidade total em um

texto, por causa de fatores como escolhas lexicais, ordem das informações, decisões editoriais e perfil do veículo. No entanto, a impessoalidade na notícia deve ser sempre buscada em vistas da abordagem objetiva e neutra se deve adotar ao relatar eventos. Ela é uma característica fundamental para garantir que a informação seja apresentada de forma clara, sem a influência de opiniões ou interesses do veículo ou do próprio jornalista.
15. II) O que torna um texto impessoal é a ausência de termos e frases que expressem juízo de valor; o enunciador não imprime no texto sua opinião pessoal.
(página 107 a 110)
Sugestões didáticas
Sugere-se discutir com os estudantes e identificar seus conhecimentos sobre o gênero web story: se já ouviram falar, se sabem o que é pelo nome, se associam necessariamente aos stories de redes sociais e demais questões que eles próprios levantem.
2. a) É importante ressaltar que a função do web story é apresentar as informações de maneira bastante concisa.
2. b) É possível que os estudantes tenham sentido falta do uso de outros recursos, como vídeo. Comente que é possível que o acesso a algumas ferramentas de gravação em rituais e festas do povo manchineri tenha sido restrito.
Refletir e argumentar
(página 109)
• A a tividade proposta possibilita desenvolver o TCT Cidadania e Civismo: Educação em Direitos Humanos. A abordagem desse tema com a turma deve ser feita com sensibilidade e respeito, criando um ambiente seguro para todos os estudantes, sob os pontos de vista da promoção da equidade de
gênero, da justiça social, da educação e dos direitos humanos. É possível que a discussão em sala de aula suscite o interesse de estudantes pelo Programa Dignidade Menstrual, por isso é importante que o corpo docente da escola esteja preparado para auxiliar com acolhimento e informações necessárias. Sugere-se organizar a sala em círculo para uma roda de conversa e incentivar que todos falem, especialmente quem poderia ser diretamente beneficiado pelo programa.
• Na primeira questão, é importante que os estudantes percebam que a dignidade menstrual está atrelada ao direito das pessoas que menstruam – mulheres, homens trans e pessoas não binárias – de passarem por esse período com segurança e condições básicas de higiene.
• Na segunda questão, sugere-se conversar com a turma sobre como o fato de a comunidade criar rituais para esse momento auxilia a desmistificação de tabus sobre ele.
• Na t erceira questão, recomenda-se incentivar os estudantes a formular propostas para intervir e tomar decisões que levem em consideração o bem comum e os Direitos Humanos.
(página 111 a 118)
(página 111 a 113)
• A escolha de uma língua oficial reflete as estruturas de poder vigentes e a necessidade de controle e unificação do Estado. Ao fazer isso, o governo estabelece uma ferramenta de integração e legitimação das instituições públicas, mas muitas vezes em detrimento de línguas locais ou minoritárias.
• Como fonte de pesquisa técnica para aprofundar o diálogo com os estudantes, sugerimos o artigo indicado a seguir. O número de línguas indígenas vivas informado no texto (274) é de meados de 2024.
DAMULAKIS, Gean. Línguas ameaçadas: diversidade linguística em perigo. Rio de Janeiro: UFRJ, 3 nov. 2021. Disponível em: https://lefufrj.wordpress. com/2021/11/03/linguas-ameacadas-diversidade -linguistica-em-perigo/. Acesso em: 17 set. 2024.
1. c) Sugere-se comentar que a perda de uma língua é sempre um processo de violência, física ou simbólica, já que o extermínio geralmente é provocado por guerras e invasões territoriais.

1. e) Ajude os estudantes a estabelecer comparações entre as mídias selecionadas, por meio da sistematização de critérios de análise, que podem ser a precisão da informação, a fonte na qual ela se embasou e o respeito aos aspectos culturais das comunidades linguísticas, entre outros.
História da língua portuguesa
(página 113 a 115)
Palimpsesto é um termo originalmente usado para descrever manuscritos antigos nos quais o texto original foi apagado ou raspado para dar lugar a um novo texto, mas em que vestígios do escrito anterior ainda permanecem. O Appendix Probi é um documento latino do século III ou IV que contém uma lista de correções linguísticas do latim. Ele é uma das primeiras fontes que revelam as mudanças linguísticas que eventualmente levariam ao surgimento das línguas românicas, como o português, o espanhol e o francês.
Na linha do t empo, sugere-se relembrar os estudantes sobre Os Lusíadas , cujo tema principal é um dos episódios das Grandes Navegações –trechos do poema foram estudados no Capítulo 2 . Assim, será possível situar no tempo a produção literária e relacioná-la com a história da língua portuguesa.
3. A interpretação da linha é interdisciplinar, porque envolve conhecimentos linguísticos, históricos e geográficos. Sugere-se organizar turma em oito grupos, um para cada ponto da linha do tempo, e, se possível, reproduzi-la em meio digital. Sugere-se conferir se a seleção de imagens realizada pelos estudantes está coerente com os textos produzidos. Linha do tempo – Sugestões de texto
1536: A primeira gramática de língua portuguesa, denominada A Grammatica da Lingoagem Portuguesa , publicada em Lisboa por Fernão de Oliveira, descreve as regras da língua portuguesa com base nas estruturas do latim.
1712: É publicado, em Portugal, o Vocabulário Portuguez e Latino, de Raphael Bluteau, primeira tentativa de dicionarização da língua.
1808: A família real portuguesa chega ao Rio de Janeiro. A variedade brasileira da língua começa a se caracterizar com mesclas das línguas em contato. A cultura do livro começa a circular, com as obras trazidas de Portugal pela família real.
1816: A arte de grammatica portugueza, primeira gramática da língua portuguesa impressa no Brasil e escrita pelo padre e professor de latim Inácio Felizardo Fortes. A gramática teve 14 edições e conceitua a gramática ainda com base nos estudos das gramáticas portuguesas.
1818: Chegam ao Brasil os primeiros imigrantes alemães e suíços. Ao longo do século XIX, também ocorreram fluxos migratórios de italianos, japoneses, sírios, libaneses, chineses e poloneses, entre outros.
1854: Couto Ferraz foi Ministro do Império e o objetivo da reforma foi modernizar a educação brasileira, que ainda era precária e baseada em parâmetros europeus. O ensino passou a focar na gramática e na literatura, com a introdução de autores e textos nacionais.
1919: Said Ali publica a Grammatica Historica da Lingua Portugueza , que, como inovação, não abarcava o latim, mas uma descrição minuciosa do português brasileiro e sua gramática.
(página 116 a 118)
4. A quantidade de integrantes por grupo pode variar de acordo com a realidade da sala. Caso considere excessiva a quantidade sugerida, escolha mais comunidades linguísticas para serem pesquisadas pelos grupos.
Indicações
Confira, a seguir, algumas sugestões para orientar o início das pesquisas dos estudantes.
• Caboclos
SANTOS, Fernando Sergio Dumas dos. O povo das águas pretas: o caboclo amazônico do rio Negro. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 14, p. 113-143, dez. 2007. Suplemento. Disponível em: www.scielo.br/j/hcsm/a/VkgX9dMtFjkL7zGXFkCG5Tz/ ?lang=pt. Acesso em: 17 set. 2024.
• Caiçaras

MARQUES, Guilherme Gonçalves; TURRA, Alexander; BIAZON, Tássia. A natureza, o caiçara e o brado: a tradição alimentar como forma de resistência social às mudanças socioambientais. Jornal da USP, [São Paulo], 11 mar. 2022. Disponível em: https://jornal.usp.br/artigos/a -natureza-o-caicara-e-o-brado-a-tradicao-alimentar -como-forma-de-resistencia-social-as-mudancas -socioambientais/. Acesso em: 17 set. 2024.
Quilombolas
CONAQ. [Perfil]. [S. l.: 2024]. Instagram: @conaquilom bos. Disponível em: https://www.instagram.com/ conaquilombos/. Acesso em: 17 set. 2024.
Pomeranos
EBEL, Daniele. Pomerano: uma língua brasileira. In: TESOURO LINGUÍSTICO. [Pelotas], 6 dez. 2019. Blogue. Disponível em: https://wp.ufpel.edu.br/tesouro -linguistico/2019/12/06/pomerano-uma-lingua -brasileira/. Acesso em: 17 set. 2024.
(páginas 119 e 120)
A proposta desta seção é proporcionar aos estudantes conhecimentos sobre a complexidade das realidades linguísticas das cidades de fronteira brasileiras, nas quais a interação, em diversas línguas, entre turistas e residentes e entre os moradores em seu cotidiano cria variedades linguísticas com características próprias. A interdisciplinaridade com a área de Língua Estrangeira Moderna – mais estritamente o Espanhol – possibilita reflexões sobre a abrangência da comunicação interpaíses.
Indicações
• Há estudos linguísticos que demonstram a existência do portunhol, que ultrapassa a simples finalidade de comunicação, desenvolvendo uma variedade
linguística (já sedimentada) que incorpora outras línguas, com regras entre seus falantes, apresentando, portanto, diversas variações (processos de transformação). É o caso do portunhol selvagem, apresentado por autores de literatura e professores de espanhol como uma mistura do português com o espanhol falado e escrito na tríplice fronteira entre o Brasil, a Argentina e o Paraguai e que apresenta também influências de outras línguas, como o guarani. Considere a leitura a seguir sobre esse tema.
Disponível em: https://jornal.unesp.br/2022/08/19/na -pista-do-portunhol-selvagem/. Acesso em: 12 set. 2024.
2. e) É provável que essa visão esteja associada a uma mescla não apenas linguística mas também de culturas e espaços, o que os coloca em uma situação muito particular que, se não for reconhecida, pode acabar gerando compreensões equivocadas sobre seu povo, como se não soubessem bem nenhuma das línguas ou fossem apátridas.
2. g) O eu lírico se reconhece em uma condição de fala em duas línguas diversas – mescladas entre si e com os falares locais –, as quais não identifica como próprias, o que o coloca em uma situação de não pertencimento e não reconhecimento de identidade linguística e cultural.
(página 121 a 123)
• Suger e-se aproveitar o item 3 para avaliar o desenvolvimento dos estudantes em relação aos conhecimentos sobre o gênero textual notícia. O ideal é que os textos escolhidos pelas duplas sejam compartilhados com toda a turma, em uma roda de leitura, proporcionando aos estudantes identificar acertos ou incoerências nas escolhas dos colegas, sempre de maneira respeitosa. Por fim, garanta que os passos de verificação da notícia foram seguidos e ajude os estudantes a exercitar o compartilhamento responsável de notícias.
• Caso os estudantes não tenham acesso às ferramentas tecnológicas necessárias para a criação dos web stories, privilegie o trabalho de roteirização proposto até o item 5, de maneira que os estudantes planejem o roteiro e consigam exercitar o diálogo entre as linguagens verbal e não verbal.
(página 124)

Sintetizar
1. O Romantismo foi um movimento literário que surgiu no final do século XVIII, na Europa, em resposta às intensas mudanças políticas, sociais e culturais impulsionadas pela Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Nele, há uma valorização da emoção e da imaginação, em contraste com o foco na racionalidade e no progresso defendidos pelo Iluminismo. Os textos românticos apresentam maior liberdade formal, evitando seguir estruturas rígidas.
No Brasil, o movimento romântico floresceu no período imperial, após a Independência, e teve uma forte conexão com a busca por uma identidade nacional, com ênfase em temas ligados à cultura brasileira, especialmente durante o reinado de D. Pedro II.
2. Podem ser citadas as características: indianismo, nacionalismo e ufanismo, valorização da subjetividade e das emoções. Essas características podem ser percebidas no poema “Marabá”, de Gonçalves Dias, pois ele trata da miscigenação, elemento importante na formação do povo brasileiro. Para isso, o poeta constrói um eu lírico feminino, Marabá, elemento indianista. A subjetividade e as emoções são exploradas pelo eu lírico, que demonstra seu desejo de ser amado.
3. No poema “Marabá”, a figura feminina indígena se vê rejeitada pelos homens indígenas, ou seja, o conflito é com pessoas de seu povo. Já no poema “Brasil”, o conflito ocorre por causa da marginalização e da opressão sofridas pelos indígenas por parte dos não indígenas. No primeiro, a mulher indígena valoriza a si mesma, mas aceita sua situação; no segundo poema, a mulher indígena tem posição de combate e de valorização, própria da literatura indígena contemporânea.
4. A estruturação da notícia conta com partes claramente identificáveis, como: título, linha fina e lide. O corpo do texto, por sua vez, costuma ser organizado de maneira que as informações mais relevantes sejam apresentadas primeiro, respeitando a estratégia da pirâmide invertida. Uma importante característica do gênero textual notícia é a concisão que o seu texto apresenta. A obrigação de um texto enxuto relacionada ao seu caráter informativo faz com que todas as partes da notícia apresentem um conteúdo importante. Por ter um propósito informacional, a notícia deve ser impessoal, ou seja, tornar o texto mais objetivo.
5. Os web stories costumam ser utilizados para fazer resumo de notícias e reportagens ou até mesmo adiantar uma informação apresentada nelas, de maneira a atrair a atenção do leitor. Assim, contribuem para a disseminação rápida da informação.
6. O Brasil não pode ser considerado um país monolíngue porque, além do português ser a língua oficial, há uma significativa diversidade linguística, com cerca de 160 línguas indígenas ainda em uso, além de idiomas falados por comunidades tradicionais, como quilombolas, e descendentes de imigrantes, como alemão, italiano e japonês. Também há a Língua Brasileira de Sinais (Libras), reconhecida oficialmente, e variações regionais do português. Ademais, migrações recentes trouxeram novas línguas, como espanhol e crioulo haitiano, o que contribui para a pluralidade linguística no país.
7. Os acontecimentos históricos são: estabelecimento da língua geral no período da colonização portuguesa (1549); formação pelo contato entre o tupi e a língua portuguesa; escravização (1757), momento em que há mistura entre línguas africanas e o português falado no Brasil; início das imigrações (1818), momento em que outras línguas passam a influenciar o português brasileiro.
Refletir e avaliar
• Possibilite aos estudantes momentos de silêncio e introspecção para que possam relembrar seu desempenho nas propostas do Capítulo. Com base em sua observação dos estudantes e das particularidades de cada um, ajude-os a construir, na coluna de observações, estratégias para avançar em pontos necessários.
(página 126 a 165)

Competências gerais: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9
Competências específicas: 1, 2, 3, 4, 6 e 7
Habilidades de Linguagens: EM13LGG101, EM13LGG102, EM13LGG103, EM13LGG104, EM13LGG105, EM13LGG201, EM13LGG202, EM13LGG203, EM13LGG204, EM13LGG301, EM13LGG302, EM13LGG303, EM13LGG304, EM13LGG401, EM13LGG402, EM13LGG601, EM13LGG602, EM13LGG603, EM13LGG604, EM13LGG701, EM13LGG702 e EM13LGG704
Habilidades de Língua Portuguesa: EM13LP01, EM13LP02, EM13LP03, EM13LP04, EM13LP05, EM13LP06, EM13LP07, EM13LP11, EM13LP15, EM13LP18, EM13LP19, EM13LP20, EM13LP21, EM13LP43, EM13LP44, EM13LP45, EM13LP46, EM13LP49, EM13LP50, EM13LP52, EM13LP53 e EM13LP54
Reconhecer as características do gênero textual literário romance com base em um trecho de O som do rugido da onça, de Micheliny Verunschk.
I nvestigar os diferentes elementos que constituem o texto narrativo para compor diferentes vozes narrativas.
• R econhecer as características do gênero textual resenha crítica.
• Identificar a classe gramatical adjetivo, utilizando-a adequadamente em contextos.
• Identificar a classe gramatical verbo, assim como seus modos, aspectos, classificações e vozes, utilizando-a adequadamente em contextos.
• Produzir uma resenha crítica para recomendar uma graphic novel
(páginas 126 e 127)
Indicações
• Para aprofundar seus conhecimentos sobre o artista indígena Jaider Esbell e sua produção artística, recomenda-se a leitura da entrevista indicada a seguir. ESBELL, Jaider. Jaider Esbell: “Arte indígena desperta uma consciência que o Brasil não tem de si mesmo”. [Entrevista cedida a] Caroline Oliveira e Raquel Setz. Brasil de Fato, São Paulo, 3 nov. 2021. Disponível em: www.brasildefato.com.br/2021/11/03/jaider-esbell-arte -indigena-desperta-uma-consciencia-que-o-brasil-nao -tem-de-si-mesmo. Acesso em: 21 set. 2024.
(página 128 a 139)
O gênero romance em O som do rugido da onça
(página 130 a 132)
3. O texto começa mencionando a perda do nome e da casa de Iñe-e, destacando a despossessão cultural e territorial que muitas vezes acompanhava o encontro entre colonizadores e indígenas. Essa perda é uma manifestação direta da imposição de uma nova ordem pelos colonizadores. Segundo o texto, Iñe-e foi “levada mar afora para uma terra de inimigos”, o que reflete o deslocamento forçado e o controle imposto sobre os indígenas pelos colonizadores. Esse deslocamento, muitas vezes, envolvia a alienação das suas terras e modos de vida. A voz de Iñe-e é apresentada como algo que foi silenciado e modificado pelo poder colonial. Ela perdeu sua voz original, que era associada à sua cultura e vida antes do contato com os colonizadores. A história de Iñe-e é contada “entre as rachaduras” e procura “o sol”, o que sugere que a própria narração da história é uma forma de resistência e uma maneira de reivindicar e lembrar a identidade e a experiência dos indígenas frente ao poder colonial. Esses elementos mostram como a dinâmica de poder entre colonizadores e indígenas envolvia não apenas a violência física e o deslocamento, mas também a tentativa de controlar e suprimir a cultura e a voz dos povos indígenas.
5. a) O foco narrativo é em terceira pessoa, ou seja, há a presença de um narrador que apresenta a história para o leitor. O narrador apresenta um ponto de vista definido sobre a história de Iñe-e e o defende durante a narração e apresentação da personagem, auxiliando o leitor na construção do próprio ponto de vista.
5. b) A alternância entre os eventos do tempo passado, construído durante a apresentação de Iñee, e o presente da narração, construído pela tomada de voz da personagem, mostra a evolução dos pensamentos, vivências e emoções de Iñe-e, evidenciando os sentimentos da personagem decorrentes da despossessão cultural e territorial imposta pelos colonizadores e os impactos dessas perdas nos fatos presentes narrados e na trajetória apresentada no romance.

6. c) A questão abre espaço para uma discussão a respeito das diferenças entre as etnias e para o modo como algumas dessas diferenças foram utilizadas como estratégias de dominação. A esse respeito, é interessante discutir a simbologia criada ao se inserirem as pessoas brancas no lugar daquele que é estranho ou diferente do padrão esperado.
8. No contexto do romance, a utilização do português pode servir como uma ponte, permitindo que as questões e os conflitos apresentados na narrativa sejam apreendidos pelo público geral, e não apenas pelos indígenas do povo miranha que sofreram as violências descritas. Além disso, ao usar a voz de Iñe-e, o narrador pode desejar dar voz a mais indígenas e enfatizar suas perspectivas únicas, desafiando, assim, as narrativas dominantes historicamente impostas.
9. Ao mesmo tempo que a língua portuguesa é usada como uma ferramenta para comunicar a história de Iñe-e de maneira poderosa e eficaz, ela também pode ser vista como uma influência externa que modifica ou distorce a maneira como essa história é percebida e transmitida. O envenenamento aqui também pode ser metaforicamente entendido como uma intrusão ou contaminação proposital da língua portuguesa pela visão de mundo de Iñe-e.
Voz narrativa e polifonia em O som do rugido da onça
(página 132 a 135)
• A o se apresentarem os boxes A voz narrativa e Polifonia , na página 133, é possível verificar
o entendimento da turma com a apresentação de trechos de outras narrativas para que os estudantes identifiquem se há mais de uma voz narrativa. A seleção desses novos trechos pode ser feita de acordo com as preferências de leitura da turma.
10. c) As imperfeições mencionadas pelo narrador podem se referir às lacunas na narrativa, às interpretações subjetivas dos eventos ou às falhas na transmissão das histórias ao longo do tempo. Ao expor a existência de imperfeições, o narrador reconhece que todas as narrativas são influenciadas pelas perspectivas e limitações de quem as conta. Isso afeta a recepção dos leitores ao permitir uma reflexão sobre a complexidade das histórias contadas e sobre a necessidade de interpretá-las.
10. d) A metáfora “feito planta que rompe a dureza do tijolo” sugere que, assim como uma planta que cresce em condições difíceis, a história narrada persiste e busca emergir apesar dos desafios e obstáculos. A busca da história pelo sol simboliza a busca pela verdade, pela compreensão mais profunda dos eventos e pelo desejo de que ela se torne pública, ou seja, de que ela deixe de ser algo omitido e passe a ser algo exposto. Isso pode também refletir a necessidade de reconhecer e valorizar as histórias que foram marginalizadas ou esquecidas.
13. c) No Trecho I, o ponto de vista usado valoriza os alemães, afirmando que eles “se apaixonaram pelo país”. Essa escolha vocabular atribui sentido positivo às ações dos exploradores. Outra passagem que reforça a visão positiva atribuída aos alemães é “tornaram-se figuras conhecidas das comunidades indígenas e contaram com a colaboração inestimável da própria população”, em que a expressão colaboração inestimável tem caráter positivo. O trecho não menciona as crianças, o que pode indicar que se evitou mencionar fatores condenáveis da exploração. Já o Trecho III tem como foco as crianças indígenas e reforça uma visão negativa dos fatos, como se pode perceber em “Sem imunidade alguma contra doenças comuns na Europa, mesmo uma simples gripe, o casal morreu depois de apenas alguns meses no novo clima.”.
(página 136)
• Ao tratar o conteúdo do boxe Adjetivos, considere os conhecimentos prévios dos estudantes para tratar o tema como revisão. Sugere-se apontar a dupla característica dessa classe gramatical: a primeira definição apresentada no boxe é semântica, explica-se pelo sentido da palavra; a segunda definição apresentada é sintática, explica-se pela relação que o adjetivo guarda com o substantivo.

15. a) O trecho descreve como a voz de Iñe-e pode se confundir com outras vozes, como a sua própria voz ou a de familiares, o que sugere multiplicidade e sobreposição de vozes. A voz de Iñe-e é parte de um diálogo simultaneamente interno e externo que envolve múltiplas vozes e influências, evidenciando a polifonia. A metáfora sugere que a voz de Iñe-e foi silenciada e desumanizada. A “pedra na garganta” é um símbolo da repressão e da impossibilidade de se expressar livremente, destacando como o ambiente e as pessoas ao seu redor contribuíram para essa opressão. Há utilização de metáforas e de comparações para destacar que a voz de Iñe-e, antes vibrante, foi silenciada e desumanizada (“virou pedra em sua garganta”). A voz dela é colocada em contraste com a dos outros, o que evidencia como sua expressão foi abafada por seus captores, descritos de forma negativa para criticar a opressão cultural e a desconexão que Iñe-e enfrenta.
(página 136 a 139)
• Sugere-se explicar o conteúdo do boxe Realismo animista, na página 138, de uma perspectiva literária, a fim de não colocar em discussão características religiosas ou defesas e ataques de algum ponto de vista que não seja o artístico.
6. a) O escritor é branco, baixo e extrovertido, enquanto o narrador é mulato, alto e introvertido.
O escritor interage abertamente com as pessoas, enquanto o narrador evita o contato visual. Essas diferenças contribuem para uma atmosfera de estranheza ao enfatizar a desconexão entre as percepções e experiências dos dois personagens e evidenciam a relação hierárquica entre eles: por ser branco, o personagem do escritor tem segurança do seu papel de dominação, por isso é extrovertido e não tem problemas em estabelecer contato visual; já o narrador, que é mulato e, por isso, dominado, sente-se incapaz de ser igual ao narrador.
6. b) O escritor vê a paisagem de maneira objetiva, notando árvores e características visíveis. O narrador, por sua vez, percebe a paisagem de forma subjetiva. Esse contraste revela diferentes formas de percepção e interpretação da realidade: o escritor adota uma abordagem mais superficial, enquanto o narrador tem uma perspectiva mais profunda e simbólica, influenciada por suas próprias experiências.
6. c) Resposta pessoal. Recomenda-se permitir que os estudantes se expressem livremente, mas é importante reforçar a necessidade de uma justificativa para as respostas à questão. Como positivo, é possível que falem sobre o maior contato com a natureza e menos obrigações. Como negativo, há o distanciamento em relação ao ser humano e a possibilidade de ser caçado por ele.
7. Em O som do rugido da onça , a morte é uma experiência não só de transformação e opressão, mas também de resistência e reinvenção. A voz do morto, enquanto meio de resistência, está carregada de novo significado e poder. Já em A confissão da leoa , a morte é reverenciada e indica continuidade. Os mortos são preservados em memória e continuam a exercer influência, o que representa um legado e uma conexão com o passado.
(página 139)
• O objetivo desta proposta é estabelecer uma comparação entre a ficcionalização da realidade do século XIX e acontecimentos da realidade contemporânea, no século XXI, de modo que os estudantes possam refletir sobre as permanências, rupturas e
transformações de comportamentos sociais. Se considerar pertinente, peça que os estudantes registrem as respostas das questões no caderno.
(páginas 140 e 141)
• A atividade poderá ser desenvolvida com apoio de duas rodas de conversa, uma no início do processo e outra no fim. Durante a roda de conversa inicial, recomenda-se incentivar os estudantes a pensar nas diversas possibilidades de vozes para narrar histórias, que podem pertencer, por exemplo, a personagens, narradores oniscientes ou elementos da natureza. Na roda de conversa final, sugere-se que sejam compartilhadas impressões do processo criativo, como dificuldades e facilidades. Também é possível comentar as vozes narrativas escolhidas pelos estudantes, identificando semelhanças e diferenças entre as produções.

(página 143 a 152)
No boxe Primeiro olhar, ao abordar a primeira pergunta, procure incentivar os estudantes a compartilhar com os colegas as diversas maneiras de se informar sobre as obras artísticas e culturais pelas quais se interessam. É possível que alguns comentem o costume de assistir a vídeos relacionados a esses temas; nesse caso, explique que a resenha crítica também é um gênero textual exercido em formato de vídeo.
• A segunda pergunta do boxe Primeiro olhar pede que os estudantes leiam o título da resenha que será analisada. Nela, é utilizado o adjetivo assombroso para descrever o romance O som do rugido da onça. Esse termo apresenta em si uma dualidade que carrega um caráter muito positivo ou negativo sobre algo. É interessante levantar hipóteses com os estudantes acerca do sentido que o uso dele cria no título da resenha. No item Linguagem do texto, essa discussão será retomada e aprofundada.
Conteúdo da resenha crítica
(página 145 a 147)
7. É importante ter em mente que os dois trechos se apoiam na corrente historiográfica denominada Nova História, segundo a qual o fazer histórico passa a não mais considerar o passado como a verdade irrefutável de um acontecimento, mas sim como a interpretação de um fato distante, que não está isenta da intencionalidade do historiador. Considerando essa vertente, o ofício do ficcionista e o do historiador se aproximam.
(página 147 a 150)
• Sugere-se que a leitura do boxe O resenhista especialista, na página 150, seja feita chamando a atenção dos estudantes para a importância da pesquisa e dos estudos a respeito da obra ou do produto que se pretende avaliar. Essas ações serão exigidas deles na seção Oficina de Texto deste Capítulo. Além disso, procure listar com eles os critérios aos quais a resenhista se ateve em sua análise de O som do rugido da onça: o conjunto da obra da autora Micheliny Verunschk; a formação profissional e os prêmios da autora; o enredo do romance; a comparação com o estilo de outros autores; o contexto no qual o livro foi lançado.
10. b) É importante que, ao longo das atividades, os estudantes sejam auxiliados a perceber que a apresentação dessas informações ao leitor também pode ser considerada um recurso argumentativo que corrobora com a avaliação positiva da obra feita pela resenhista.
11. a) Pode ser difícil para os estudantes reconhecerem a função da apresentação das citações em cada trecho; no entanto, é muito importante que eles levantem hipóteses a respeito do uso de excertos do livro resenhado, compartilhando impressões com a turma, e então, com auxílio, cheguem a uma resposta mais próxima do esperado. Veja, a seguir, a citação, o parágrafo em que ela aparece e a função que exerce no trecho, respectivamente.

• “Palavras podem ser armas dóceis”; 4 o parágrafo; refutar a ideia de que, no romance, as palavras são dóceis e, ao contrário, explicitar que nele as palavras reivindicam uma outra história sem condescendência ou vitimização.
• “Eram pássaros delicados, os brasis”; 4 o parágrafo; exemplificar a visão dos cientistas alemães sobre os indígenas brasileiros.
• “j ustiça de onça se faz é no dente”; 5 o parágrafo; sustentar a opinião da resenhista de que “há momentos sem espaço para perdão ou conciliação” e mostrar como, no romance, a presa se torna predador.
• “J á viu como é que onça morde? (…) Quando chega no osso, aí é que ela aperta mais, e os dentões muito dos perfuradores vão nesse trabalho até alcançar os miolos, quebrando os ossos como se quebra um coco ou uma cabaça ao meio. É forte, viu?, a mordida da Dona”; 6 o parágrafo; finalizar a resenha e exemplificar o berro da menina-onça que se torna um basta.
13. b) Sim, a linha fina apresenta novas informações sobre o romance destacado no título: o estilo da prosa da autora e uma síntese do enredo.
13. c) A comparação com a prosa de dois autores consagrados, Guimarães Rosa e Mário de Andrade, estratégia que se repete ao longo do texto.
14. a) O nome da resenhista: Stefania Chiarelli; sua atuação profissional: professora de Literatura Brasileira na Universidade Federal Fluminense (UFF); e as suas publicações: coletânea Falando com estranhos: o estrangeiro e a literatura brasileira
14. b) As informações indicam que a resenhista é uma especialista no assunto sobre o qual opinou: além de ser professora de Literatura Brasileira, publicou um livro nessa área.
14. c) O livro organizado por Chiarelli analisa as narrativas que apresentam personagens à margem da nação, como é o caso das crianças indígenas que protagonizam o romance O som do rugido da onça .
16. c) Se for conveniente, sugere-se organizar a turma em círculo e permitir aos estudantes que compartilhem suas opiniões. Ressaltar a importância de justificar o próprio posicionamento e de ter uma escuta atenta, pois um novo ponto de vista pode servir para reavaliar, refinar e até mesmo mudar de opinião.
(página 151)
• Ao tratar o conteúdo de locução adjetiva, no boxe Locução adjetiva , sugere-se verificar o entendimento da turma por meio do exercício oral de transposição de uma locução adjetiva para um adjetivo e vice-versa. Seguem alguns exemplos: criança com medo (amedrontada); grupo em silêncio (silencioso; quieto); pessoa com fome (faminta); espírito em paz (tranquilo, pacífico); situação sob controle (controlada); pessoa a favor (favorável).
(página 152)
• Caso julgue necessário, explique aos estudantes que a expressão gerar o engajamento significa provocar nos seguidores uma vontade real de curtir e comentar um post, além de compartilhar e mesmo querer saber mais sobre o conteúdo publicado. Explique também que a fotografia compartilhada na mensagem eletrônica de Marina Silva apresenta a escritora Micheliny Verunschk autografando um exemplar do romance O som do rugido da onça
(página 153 a 159)
• Nesta seção, o foco de estudo está nos verbos, suas formas, classificações e efeitos de sentido em textos, de acordo com modo, tempo e aspecto verbais. Parte-se da premissa de que os estudantes conhecem o tema, amplamente estudado ao longo de sua escolarização; por isso, a proposta envolve análise textual e ampliação desses conhecimentos para contextos mais complexos de significação.
• No boxe Verbos, da página 153, sugere-se questionar os estudantes sobre como eles definem os verbos e ajudá-los a ampliar o conceito para aplicá-lo à expressão de tempo dos acontecimentos em textos. Eles podem

ter dúvidas em relação à identificação das formas nominais dos verbos (infinitivo, gerúndio e particípio), que serão analisadas em outro volume. De todo modo, se considerar pertinente, retome com eles essas formas.
• N o esquema de desinências da página 153, o exemplo apresentado parte do trecho analisado na atividade 1, conjugado no mesmo modo e tempo verbal, porém em outra pessoa, para marcar a desinência. Se considerar necessário, retome com os estudantes as pessoas do caso reto (os pronomes pessoais) e as conjugações do verbo perder, antes de propor a análise estrutural. Se houver tempo hábil, peça que eles analisem a forma conjugada desse verbo em outros tempos e pessoas, para que busquem os padrões de formato entre as partes que o compõem. O quadro do boxe Modo indicativo e seus tempos , na página 154, pode auxiliar nessa proposta.
Modo indicativo e seus tempos
(página 154 a 156)
Neste Capítulo, o foco estará no modo indicativo; no entanto, sugere-se retomar com os estudantes os conhecimentos prévios sobre os demais modos, a fim de que se ambientem com a temática.
Para auxiliar os estudantes a compreender o conceito de aspecto verbal, ajude-os a identificar em trechos das narrativas lidas cada um dos aspectos apresentados.
2. Verbos/locuções verbais: é (indicativo), perdeu (indicativo), permanece (indicativo), foi levada (locução verbal no particípio – forma nominal), perdeu (indicativo), recuperou (indicativo), preste (imperativo), apresento (indicativo), é (indicativo), ecoava (indicativo), chamando (gerúndio – forma nominal), colhia (indicativo), levar (infinitivo – forma nominal), é (indicativo), foi silenciada (locução verbal no particípio – forma nominal), abafada (particípio – forma nominal), contida (particípio –forma nominal).
3. Essa atividade pode apresentar um grau de dificuldade alto para os estudantes, sobretudo porque associa o emprego dos verbos ao contexto
da narrativa e aos efeitos de sentido que expressam. Por isso, ajude-os a reconhecer esses sentidos coletivamente, se considerar necessário. O objetivo é que os estudantes compreendam que as escolhas de formas verbais têm um efeito importante para a construção dos tempos da narrativa, uma vez que ajudam na construção da alternância das ideias da voz narrativa com os fatos da história narrada por essa voz, além de trazerem significados específicos para a informatividade da história narrada. Veja, a seguir, o verbo, o tempo verbal e seu efeito de sentido no contexto da narrativa.
• É; presente; anuncia, no presente, a contação de uma história.
• Pe rdeu; pretérito perfeito; refere-se a uma ação praticada pela personagem no passado.
• Permanece; presente; refere-se à menina Iñe-e e coloca-a também no presente, como se estivesse ali vigiando a contação de sua história.
• Foi levada; particípio passado; oculta o sujeito da ação de levar a menina, tornando-a o referente da ação.
• Perdeu; pretérito perfeito; mostra uma ação praticada pela menina no passado, na história que será narrada.
• Recuperou; pretérito perfeito; mostra uma ação praticada pela menina no passado, na história que será narrada.
• Preste; imperativo; dialoga com o leitor, ordenando a ele uma ação.
• A presento; presente; retoma para o presente (para a voz narrativa) o foco de atenção do leitor, a fim de esclarecer a história.
• É; presente; retoma para o presente (para a voz narrativa) o foco de atenção do leitor, a fim de esclarecer a história.
• Ecoava; pretérito imperfeito; refere-se à história que será contada.
• Chamando; gerúndio; expõe uma ação em continuidade no passado em que a narrativa ocorreu.
• Co lhia ; pretérito imperfeito; expõe uma ação em continuidade no passado em que a narrativa ocorreu.
• L evar ; infinitivo; expressa apenas a ação no contexto.
• É; presente; retoma a voz narrativa que conta a história, no presente.

• Foi silenciada; particípio passado; destaca primeiro o silenciamento, para depois apresentar quem é o sujeito dessa ação (o capitão).
• Abafada; particípio passado; destaca primeiro o abafamento, para depois apresentar quem é o sujeito dessa ação (o capitão).
• Contida; particípio passado; destaca primeiro a contenção, para depois apresentar quem é o sujeito dessa ação (os risos dos cortesãos e a impaciência rude das Fraülein).
(páginas 156 e 157)
Para auxiliar os estudantes na aprendizagem da classificação dos verbos pela flexão, peça que eles conjuguem oralmente os verbos citados no boxe Classificação dos verbos como exemplo, chamando a atenção para o formato flexionado de cada um deles, como padrão. Em relação à função, ajude-os a perceber a presença de locuções verbais em contextos diversos, diferenciando o verbo principal do verbo auxiliar.
(página 158)
Se considerar necessário, retome com os estudantes o conceito amplo de sintagma antes de abordar o de sintagma verbal. Ajude-os na compreensão de que o sintagma opera no nível sintático e associa em si diversas classes de palavras que determinam valores entre si. Para compreensão do esquema apresentado na página 158, chame a atenção dos estudantes para o fato de o sintagma verbal, em sua totalidade, poder receber outros sintagmas nominais. Os sintagmas verbais são unidades de significação, com funcionalidades específicas, dentro da estrutura da oração. Esses conceitos serão abordados em outros volumes, à luz da análise sintática; no entanto, apresentá-los aos estudantes já no estudo do nível morfológico é útil para mostrar que a língua não é exata e que as possibilidades de análise linguística não são fragmentadas, implicando, muitas vezes, em combinações para a compreensão de certo fenômeno, que pode ser, por exemplo, morfossintático.
(página 159)
1. b) Espera-se que os estudantes reflitam sobre a vontade de fazer algo apesar da visão dos outros. Uma possibilidade de se trabalhar nessa questão é fomentar a discussão coletiva sobre situações individuais ou em grupo que já vivenciaram, permitindo que sejam “contagiados” com boas atitudes e ações para fazer a diferença.
(página 160 a 162)
• Procure anteceder a atividade de compartilhamento, prevista na etapa Motivar a criação , preparando individualmente os estudantes para esse momento, de maneira que eles tenham tempo para refletir sobre a obra favorita ou mesmo para comunicar dificuldades a esse respeito. É importante que, no momento propício, eles se sintam confiantes para compartilhar as impressões com os colegas.
• Após o preparo individual, sugere-se organizar uma roda de conversa para o compartilhamento das preferências dos estudantes.
• Na etapa Compartilhar, ao distribuir as resenhas críticas entre os estudantes, procure escolher leitores que não tenham tido contato com a obra resenhada. Sugere-se que esse momento seja realizado em formato de roda de conversa.
• Se possível, programe-se para que as duas rodas de conversa, a do início da Oficina de texto e a do final, sejam realizadas em espaços externos à sala de aula, o que pode tornar a experiência mais agradável para a turma.
(página 163)
Sintetizar
Respostas e comentários
1. No romance O som do rugido da onça , de Micheliny Verunschk, as múltiplas vozes narrativas são fundamentais para construir a personagem

Iñe-e e suas diversas facetas. A voz interna de Iñe-e revela suas emoções e resistência ao apagamento cultural da colonização, enquanto as vozes externas, como a dos colonizadores, destacam a violência sofrida pelos indígenas. As vozes mitológicas acrescentam uma dimensão espiritual, e a voz histórica, baseada em registros de uma expedição científica, insere Iñe-e em um contexto de exploração cultural. Essas perspectivas se entrelaçam, criando uma personagem complexa e ressaltando as consequências do colonialismo em sua vida.
2. O gênero romance é caracterizado pela complexidade na construção de personagens e pela multiplicidade de perspectivas narrativas. Em O som do rugido da onça , a complexidade de Iñe-e reflete questões de identidade, deslocamento cultural e resistência ao apagamento indígena, enquanto A confissão da leoa apresenta Mariamar, que enfrenta o patriarcado e tradições opressivas, explorando seu trauma e desejo por liberdade. A multiplicidade de perspectivas é evidenciada em ambas as obras, com Verunschk alternando entre vozes internas, históricas e mitológicas para aprofundar a trajetória de Iñe-e e Couto utilizando múltiplos narradores para entrelaçar diferentes percepções sobre a caça à leoa e o papel das mulheres na sociedade. Essas características enriquecem as narrativas, refletindo questões sociais e identitárias de forma multifacetada.
3. Os romances oferecem uma perspectiva crítica da história ao abordar colonialismo, opressão e identidade cultural. O som do rugido da onça questiona a colonização e seus impactos na vida indígena, desafiando a visão eurocêntrica por meio de vozes que expõem a resistência cultural. Em A confissão da leoa, a leoa é uma metáfora para a luta contra a opressão e a violência patriarcal em Moçambique, revelando tensões entre tradições e modernidade. Ambas as obras enfatizam vozes marginalizadas e promovem uma compreensão mais profunda das complexidades da história e suas repercussões na identidade contemporânea.
4. As resenhas críticas informam e persuadem o leitor sobre obras culturais ou artísticas, apresentando estrutura, conteúdo e estilo específicos. Estruturalmente, incluem três elementos principais: a contextualização da obra (data de lançamento e autoria), a sinopse (resumo do enredo) e a análise com comentários do resenhista, que expressa suas
opiniões sustentadas por argumentos. O conteúdo vai além da descrição, analisando aspectos como temática e estilo, enquanto o estilo deve ser claro e persuasivo, usando linguagem acessível. Assim, a resenha crítica combina informações e análise, influenciando a decisão do leitor sobre a obra.
5. Verbos são palavras que expressam acontecimentos no tempo (ações, processos, estados ou manifestações de fenômenos da natureza). Os modos verbais são as diferentes maneiras de expressar a atitude do enunciador, podendo indicar certeza, dúvida ou ordem. O aspecto verbal relaciona-se com a durabilidade da ação no tempo (concluída ou não concluída); além disso, esse conceito pode ser ampliado para abranger valores semânticos pertinentes aos verbos. O tempo verbal relaciona-se com o momento em que as ações ocorreram: presente, passado ou futuro. Os verbos apresentam classificações de acordo com sua conjugação (regular, irregular, defectivo ou abundante) e de acordo com sua função (principal ou auxiliar). As vozes verbais são associadas à forma como o sujeito se expressa através do verbo, podendo ser classificadas entre ativa, passiva e reflexiva.
• Possibilite aos estudantes momentos de silêncio e introspecção para que possam relembrar seu desempenho nas propostas do Capítulo. Com base em sua observação dos estudantes e das particularidades de cada um, ajude-os a construir, na coluna de observações, estratégias para avançar em pontos necessários.
(páginas 164 e 165)
1. Sugere-se comentar com os estudantes que, ainda que eles não se lembrassem de todos os modos e tempos verbais, seria possível excluir as alternativas a, c e e do rol de respostas corretas, considerando apenas os estudos feitos neste Capítulo. Ressalte as alternativas b e d como possibilidades. De todo modo, o caráter de ordenação é explícito no texto, o que aponta a alternativa d como a única correta.
(página 166 a 203)
• Competências gerais: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10

Competências específicas: 1, 2, 3, 4, 6 e 7
Habilidades de Linguagens: EM13LGG101, EM13LGG102, EM13LGG103, EM13LGG104, EM13LGG201, EM13LGG202, EM13LGG203, EM13LGG204, EM13LGG302, EM13LGG303, EM13LGG401, EM13LGG402, EM13LGG601, EM13LGG602, EM13LGG604, EM13LGG701, EM13LGG702 e EM13LGG704
Habilidades de Língua Portuguesa: EM13LP01, EM13LP02, EM13LP03, EM13LP06, EM13LP07, EM13LP15, EM13LP20, EM13LP24, EM13LP29, EM13LP45, EM13LP46, EM13LP49, EM13LP50 e EM13LP52
Reconhecer as modificações e rupturas formais trazidas pela poesia contemporânea por meio da leitura de um poema da autora cearense Jarid Arraes
Examinar o modo como os recursos expressivos se manifestam no contexto da poesia contemporânea de divulgação on-line
Analisar composição, contexto e estilo do gênero textual relato de experiência vivida.
Reconhecer e analisar as relações de intertextualidade presentes entre dois relatos de experiência vivida.
• Analisar a modalização enunciativa nos textos de gêneros variados, bem como compreender os objetivos desse fenômeno.
• Reconhecer a expressividade dos verbos nos modos subjuntivo e imperativo como recursos gramaticais modalizadores da enunciação
• Reconhecer vivências próprias que possam servir de material para a produção de um relato de experiência vivida.
• Produzir um relato de experiência vivida, considerando sua adequação às condições de produção do texto e à composição do gênero textual.
(páginas 166 e 167)
• O C apítulo é iniciado com a análise da obra de arte No terraço do mundo , da artista visual Maria Auxiliadora da Silva, que serve como ponto de partida para discutir o multiculturalismo e a valorização das histórias vividas, por meio da escrita de relatos pessoais. A temática da multiplicidade de olhares será o fio condutor do Capítulo, facilitando o trabalho com a poesia, uma vez que esse gênero textual literário parte de maneiras subjetivas de ver o mundo, assim como os relatos pessoais.
• Sugere-se apresentar a obra No terraço do mundo aos estudantes e promover uma discussão em roda, de maneira que possam observar os elementos da imagem: as pessoas retratadas e suas expressões, o cenário, as cores, as formas.
• Sugere-se contextualizar a imagem por meio da leitura da legenda. Se possível, complemente as informações desse texto contando à turma que, a partir de 1968, Maria Auxiliadora participou de um grupo de artistas engajados no movimento negro, encabeçado pelo escritor pernambucano Solano Trindade (1908-1974). Informe aos estudantes que a obra da artista foi reconhecida internacionalmente apenas após sua morte, com exposições na Itália, França e Alemanha. Essas ações mobilizam aprendizados ligados à observação e à fruição da obra de arte e, mais especificamente, à competência geral 3 da BNCC.
• Proponha aos estudantes fazer uma leitura inicial das questões, pois isso contribui para a compreensão textual e ajuda a retomar os conhecimentos discutidos ao longo da observação da imagem.
• Se considerar pertinente, peça à turma que registre as respostas no caderno, destacando, por exemplo, palavras-chaves.
1. Se considerar pertinente, comente com os estudantes que, na imagem, a mulher que observa a cena na
janela pode ser interpretada como a própria artista, Maria Auxiliadora, que observava o cotidiano de seus amigos e familiares na periferia para retratá-lo.
• Para ampliar a discussão sobre a obra de Maria Auxiliadora, é possível ver as obras reunidas em exposição realizada pelo Museu de Arte de São Paulo (Masp), em 2018.

MARIA Auxiliadora: vida cotidiana, pintura e resistência. São Paulo: Masp, [2018]. Disponível em: https://masp. org.br/exposicoes/maria-auxiliadora-da-silva-vida -cotidiana-pintura-e-resistencia. Acesso em: 24 set. 2024.
(página 168 a 178)
Sugere-se propor as questões do boxe Primeiro olhar antes da leitura do poema. O objetivo das questões é permitir que os estudantes reflitam sobre construção identitária que a literatura oferece como forma de introduzir a temática da negritude abordada no Capítulo, além de incentivar a reflexão sobre a maneira como as desigualdades afetam o campo artístico-literário. Se julgar pertinente, durante a resolução das questões, retome o conceito de cânone literário, estudado no Capítulo 2. Proponha uma leitura inicial e coletiva do poema de Jarid Arraes e do glossário que o acompanha. Chame a atenção dos estudantes para o título do poema, “Nunc obdurat et tunc curat”, que está em latim (“Agora endureces e depois curas”, em português).
Trata-se de um idioma que não é mais falado hoje em dia, mas é usado para compreender referências culturais e literárias. Jarid Arraes usa essa referência para falar sobre a marginalização das mulheres negras na literatura, transformando a ideia de sorte em uma metáfora para luta e resistência.
• Sugere-se pedir aos estudantes que escrevam, no caderno ou em uma folha separada, as sensações despertadas pelo poema e criar um banco de palavras, o que pode ser feito manualmente, na lousa, ou digitalmente, por meio de plataformas ou aplicativos que ajudam a construir nuvens de palavras. Ainda que existam palavras ou expressões iguais, anote o número
de vezes que elas aparecem, pois isso ajuda a mapear as compreensões dos estudantes acerca do texto.
(páginas 169 e 170)
3. Durante a realização da pesquisa, é importante verificar se, para além de seguir as instruções e obter informações de fontes confiáveis, os estudantes conseguiram identificar que a composição costuma ser apresentada em salas de concerto porque Carl Orff selecionou 20 dos 254 poemas de Carmina Burana e os musicou. Caso os estudantes precisem de auxílio, é possível apresentar o texto indicado a seguir como ponto de partida para a pesquisa.
• O texto a seguir traz informações sobre a origem do manuscrito “Carmina Burana” e de sua musicalização por Carl Orff.
CONHEÇA o significado de “Carmina Burana”, no Caderno de Música. [S. l]: EBC, 13 jan. 2018. Disponível em: https://radios.ebc.com.br/caderno-de-musica/ 2018/01/conheca-o-significado-de-carmina-burana -no-caderno-de-musica. Acesso em: 24 set. 2024.
(página 171 a 173)
5. d) O item propõe a leitura dos versos 27 a 30. Os furtos são descritos como “clássicos”, “históricos” e “afinados”. Indica-se analisar com os estudantes o efeito de sentido gerado por cada um dos adjetivos mencionados, considerando a polissemia que essas palavras adquirem no contexto. Enquanto o termo clássico pode se referir a um comportamento corriqueiro e consistente, também pode se referir à expressão música clássica, ou seja, erudita. Algo semelhante ocorre com a palavra históricos, que apresenta essa dupla significação. O termo pode se referir tanto aos furtos históricos sofridos pela população negra enquanto grupo quanto ao indivíduo. A palavra afinados , por sua vez, pode caracterizar os furtos como bem elaborados ou se referir à afinação da cantata, por exemplo. Oriente os estudantes a realizar uma discussão em grupo.
Isso pode enriquecer a reflexão individual, permitindo considerar diferentes pontos de vista e experiências.
(páginas 173 e 174)
11. Durante a resolução da atividade, incentive os estudantes a compreender a estrutura da cantata enquanto gênero. O entendimento da noção de ato, por exemplo, é importante para garantir uma interpretação mais aprofundada do poema de Jarid Arraes. É possível explicar aos estudantes que a estrutura de divisão em atos é reelaborada no contexto do poema, pois, a cada aparição da expressão o primeiro ato – ainda que dividida entre dois versos na mesma estrofe –, há um novo encadeamento temático que se relaciona com o anterior, mas também pode ser interpretado em autonomia. Assim, pode-se interpretar o termo ato com base na duplicidade de seu significado, associando-o à ideia de ato poético.

(página 174 a 178)
A análise do poema da escritora paulistana Midria promove o trabalho com o TCT Multiculturalismo: Diversidade Cultural, propiciando aos estudantes refletir sobre o espaço destinado às mulheres na arte, sobretudo às mulheres negras, e a luta delas por figurar em espaços considerados letrados. Sugere-se ler os termos do glossário com os estudantes, pedindo a eles para escrever frases ou explicar situações em que seja possível observar o uso das palavras prelúdio e utopia . Pode-se, ainda, conversar sobre contextos em que as palavras aparecem. Prelúdio, por exemplo, pode ser observado em livros, em ópera e em espetáculos de dança; utopia pode ser vista em títulos de livros, em músicas e em estudos a respeito de diferentes sociedades.
• Sugira que os estudantes façam as atividades em duplas ou em trios e incentive-os a se expressarem ao longo da correção dos itens. Isso promove a reflexão a respeito das aprendizagens, ampliando aspectos ligados à autonomia adolescente.
• O vídeo indicado a seguir apresenta uma entrevista com a poeta e slammer Midria. Se possível, assista ao vídeo com os estudantes e faça pausas estratégicas para comentar os aspectos abordados pela poeta ao longo da entrevista e as declamações. Destaque, ainda, a postura e a maneira como a poeta usa a voz e o corpo para declamar seus versos e os efeitos que esses recursos causam tanto em quem vê e ouve quanto para o próprio texto.
MIDRIA, poeta e slammer. [S. l.: s. n.], 2023. 1 vídeo (4 min). Publicado por Canal Arte1. Disponível em: www. youtube.com/watch?v=CM0POcrjI8A. Acesso em: 25 set. 2024.
4. c) A arte e a literatura podem ajudar as pessoas a lidar com suas realidades e a expressá-las, elaborando ações que podem transformá-las, com base em um caminho que passa pelo autoconhecimento, pela resistência e pela mudança social.
(páginas 177 e 178)
• Ao longo das atividades 6 e 7, é importante retomar a leitura dos poemas de Jarid Arraes e Midria para que os estudantes possam compreender o sentido global dos textos antes e durante a escrita das respostas. Incentive-os a reler os textos sempre que necessário, pois tal ação contribui para o entendimento de aspectos implícitos e explícitos de produções escritas, seja em prosa ou em versos.
• A o tratar de modalização enunciativa, o boxe Conceito traz importantes reflexões acerca desse recurso, que pode ser utilizado tanto na fala quanto na escrita e carrega diferentes sentidos. Peça aos estudantes que leiam e, se possível, criem e/ou pesquisem exemplos para compartilhá-los com a turma.
(página 178)
• Suger e-se pedir à turma para ler o trecho da reportagem sobre a canção Bum bum tam tam ,

do músico Fioti. Comente com os estudantes que o artista utiliza um trecho de flauta da Partita em Lá Menor do compósito alemão Johann Sebastian Bach (1685-1750) para tornar a sua canção mais envolvente, dançante e rica em camadas sonoras, comparáveis a três orquestras tocando simultaneamente.
• Sugere-se promover com a turma a discussão sobre a pergunta do boxe e relacioná-la também com o poema de Jarid Arraes, que faz referência à cantata Carmina Burana , de Carl Orff, no sentido de salientar as semelhanças entre o uso dos recursos usados pela escritora e pelo músico para compor as criações.
Se possível, reproduza o áudio de Carmina Burana e de Partita em Lá Menor e peça aos estudantes que façam uma pesquisa sobre as duas obras, considerando o ano em que foram criadas e o contexto em que surgiram, entre outros aspectos.
Para apoiar o trabalho com o poema de Jarid Arraes e o trecho da reportagem sobre a canção Bum bum tam tam, sugere-se o vídeo indicado a seguir. Trata-se do registro de uma apresentação no Festival de Música de Santa Catarina.
JOHANN Sebastian Bach – Partita em lá menor para Flauta Solo | 12o FEMUSC - 2017. [S. l.: s. n.], 2017. 1 vídeo (10 min). Publicado pelo canal FEMUSC. Disponível em: www.youtube.com/watch?v=eSAUwmJLrv4. Acesso em: 25 set. 2024.
A cantata “O fortuna”, parte de Carmina Burana , pode ser ouvida no endereço indicado a seguir. ANDRÉ Rieu - O Fortuna (Carmina Burana - Carl Orff). [S. l.: s. n.], 2013. 1 vídeo (4 min). Publicado pelo canal André Rieu. Disponível em: www.youtube.com/ watch?v=EJC-_j3SnXk. Acesso em: 25 set. 2024.
(páginas 179 e 180)
• Considerando a temática do texto da seção Estudo Literário, a seção Conexões com Biologia destaca a presença da mulher negra na ciência, mais especificamente a biomédica Jaqueline Goes, e o modo
como esse fato contribui para a representatividade, reforçando a importância da pluralidade de pessoas negras em diferentes instâncias.
• Após a leitura do texto, que pode ser feita coletiva ou individualmente, proponha a resolução das questões e, caso julgue pertinente, sugira aos estudantes que se reúnam em duplas para realizar as atividades e discutir os aspectos apresentados pelo texto.
• Pode-se incentivar a discussão sobre representatividade a partir das ideias de: modelos positivos de identificação, discutindo como a boneca pode servir como uma figura de identificação para meninas negras, proporcionando um exemplo tangível de sucesso e competência em uma área tradicionalmente sub-representada por mulheres negras, como a ciência; inspiração para seguir carreiras científicas: refletindo sobre como a representatividade em brinquedos pode inspirar meninas negras a se interessarem por áreas relacionadas à ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM), desafiando estereótipos que limitam essas escolhas; e promoção da diversidade e combate ao preconceito: analisando o papel que a inclusão de modelos diversos pode desempenhar no combate ao racismo e aos preconceitos de gênero, promovendo uma visão mais inclusiva da sociedade e valorizando as diferenças.
(página 181 a 189)
• O trabalho com o gênero textual relato de experiência vivida é uma oportunidade de promover o autoconhecimento dos estudantes e a valorização de suas histórias em diferentes âmbitos (familiar, social, político), além de ampliar o campo de atuação vida pessoal e as práticas de linguagem nele envolvidas, o que, por sua vez, estão ligadas ao contexto da vida contemporânea e às condições juvenis no Brasil e no mundo. Na seção, os estudantes irão ler o relato de Bianca Santana, entender o conceito do gênero e analisar a sua estrutura. Por fim, na seção Oficina de Texto , os estudantes poderão aplicar esses conhecimentos na produção de um relato sobre uma experiência própria.
• Sugere-se utilizar as questões propostas no boxe Primeiro olhar como avaliação dos conhecimentos prévios da turma, já que os estudantes provavelmente tiveram contato com o gênero textual relato de experiência vivida ou relato pessoal, ao longo dos anos finais do Ensino Fundamental.
Conteúdo do relato de experiência vivida
(página 182 a 184)

I ndica-se propor aos estudantes que, durante a leitura do relato de Bianca Santana, todos anotem as principais ideias do texto, o que pode ser feito por meio de um esquema, com anotação de palavras-chave ou em um pequeno parágrafo, entre outras possibilidades.
1. Respostas pessoais. Incentive os estudantes a recuperar a hipótese criada. Caso tenha se confirmado, peça a eles que indiquem o que possibilitou chegar a essa resposta; caso contrário, peça a eles que expliquem por que não se confirmou.
2. b) A frase pode ser considerada uma continuação e um aprofundamento da realidade apresentada no título; afinal, Bianca Santana se descobriu negra aos 20 anos de idade, dez anos antes de escrever o relato.
2. c) Respostas pessoais. É possível que os estudantes tenham estranhado o título e a frase em um primeiro momento, pois, pelo senso comum, espera-se que uma pessoa negra tenha se reconhecido como tal desde muito nova, e não se percebido assim ao longo dos anos. Tal estranhamento é um recurso causado pela escrita e que busca atrair a atenção do leitor para os acontecimentos que propiciaram a descoberta da identidade negra de Bianca Santana, que serão narrados em seguida à afirmação da primeira frase.
3. b) Resposta pessoal. Bianca foi reconhecida como pessoa negra pelo coordenador pedagógico do cursinho e tratada com cumplicidade. De acordo com ele, ela seria uma boa referência para os estudantes por ser uma das poucas professoras negras.
5. Para essa atividade, sugere-se que seja criado um ambiente seguro para o diálogo respeitoso sobre colorismo. Explique o colorismo como a discriminação baseada no tom de pele, que pode ocorrer
mesmo em grupos racializados. Mostre como o colorismo se manifesta na mídia, no trabalho e nas relações sociais, ajudando os estudantes a identificar esse fenômeno e destacando sua complexidade.
Indicações
• Para aprofundar seu conhecimento e o dos estudantes sobre colorismo, sugere-se a leitura do livro indicado a seguir.
DEVULSKY, Alessandra. Colorismo. São Paulo: Jandaíra, 2021.
(página 184)
• Procure criar um ambiente acolhedor e seguro para que todos se sintam confortáveis para compartilhar suas opiniões. Destaque a importância de compreender como o racismo estrutural pode influenciar práticas individuais e coletivas. Peça aos estudantes que formulem suas próprias opiniões e argumentos sobre a validade da comparação de Bianca Santana e o papel do racismo na história do futebol. Incentive-os a compartilhar suas reflexões e a considerar diferentes perspectivas.
• Sugere-se que a turma seja organizada em círculo e que a atividade seja desenvolvida em roda de conversa. Oriente os estudantes a respeitar o turno de fala um do outro, praticando a escuta dos argumentos dos colegas.
(página 185)
Leitura complementar
• Ao longo dos capítulos, sempre que possível, os estudantes serão incentivados a analisar o papel do suporte na relação com os gêneros. Sobre esse assunto, leia, a seguir, o trecho do livro Produção textual , análise de gêneros e compreensão , de Luiz Antônio Marcuschi (1946-2016).
Diante dessas poucas observações introdutórias, podemos indagar: qual o papel do suporte na relação com os gêneros? Tem o gênero características distintas adicionais quando realizado e acessado em um outro

suporte? A ideia central é que o suporte não é neutro e o gênero não fica indiferente a ele. Mas ainda estão por ser discutidos a natureza e o alcance dessa interferência ou desse papel. Uma observação preliminar pode ser feita a respeito da importância do suporte. Ele é imprescindível para que o gênero circule na sociedade e deve ter alguma influência na natureza do gênero suportado. Mas isso não significa que o suporte determine o gênero e sim que o gênero exige um suporte especial.
MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola, 2008. p. 174.
As atividades 10 e 11 podem ser realizadas oralmente em um primeiro momento e, em seguida, individualmente. Ao longo da discussão, oriente os estudantes a fazer anotações das principais ideias discutidas para sistematizar as questões, pois essa ação mobiliza a habilidade de escuta e de transformação das ideias em texto de resposta.
(páginas 185 a 187)
A seção convida à reflexão sobre a interação entre o uso dos tempos verbais e seus sentidos, com base no relato de Bianca Santana. O conteúdo de verbo será retomado na seção Estudo da Língua.
Para abordar o esquema dos tipos de modalizadores discursivos, na página 187, sugira que os estudantes encontrem, nos textos lidos ao longo do Capítulo, algumas dessas expressões e reconheçam seus efeitos de sentido. É possível retomar, por exemplo, os trechos selecionados na questão 14, na página 186, e, conjuntamente aos estudantes, mostrar suas classificações e expressividades.
12. Para responder à atividade, é interessante resgatar o conhecimento construído pelos estudantes nos capítulos anteriores acerca do estudo dos verbos.
13. a) I. Na época do colégio católico, Bianca Santana era identificada como morena.
II. Ao perguntar da avó negra, a família de Bianca
dizia que ela também era descendente de indígenas e portugueses.
III. Em 2004, Bianca passou pela rua Riachuelo, onde viu a placa do cursinho Educafro.
IV. No mesmo dia, Bianca conversou com o coordenador pedagógico do Educafro.
V. Após a conversa, Bianca foi à Câmara Municipal de São Paulo e fez a entrevista que precisava para a sua reportagem.
VI. Bianca começou a reparar que, nos lugares que frequentava, as pessoas não eram tão parecidas com ela.
(páginas 188 e 189)
Sugestões didáticas
• Ressalte a importância da memória na construção dos relatos pessoais. Para isso, é possível incentivar os estudantes a buscar lembranças, não só na memória mas também em objetos, como fotografias e outras recordações, para escrever o texto proposto na Oficina de Texto.
• Proponha a resolução das atividades em duplas para que os estudantes possam discuti-las e escrever as respostas.
• Tanto o item d da atividade 2 quanto a atividade 3 são importantes para a turma refletir sobre experiências prévias que envolveram o relato de experiências e acontecimentos. Essa reflexão irá prepará-los para a produção proposta na seção Oficina de Texto
2. Para responder à atividade, indica-se retomar o conteúdo de figuras de palavra e de pensamento. Os estudantes tiveram a chance de analisar com maior profundidade o uso da figura de linguagem metáfora no Capítulo 2 deste volume, conforme indicado no boxe Retomada . As figuras de pensamento ainda serão trabalhadas, mas também fazem parte dos estudos dos anos finais do Ensino Fundamental.
(página 190 a 199)
• Nesta seção, as propostas analisam o uso dos verbos no modo subjuntivo e seu efeito de sentido em textos, com atenção a estratégias de modalização discursiva. O estudante é conduzido a reflexões com base nos textos lidos, para verificar efeitos de sentido e sua relação com as intencionalidades do produtor, de acordo com o gênero. Também é proposta uma ampliação sobre o estudo da voz passiva, para reconhecimento das formas sintética e analítica, e seu emprego como estratégia de modalização. Finalmente, é analisado o uso dos verbos no modo imperativo e outras formas de indicar ordem em textos.

(página 190 a 192)
2. a) O sentido identificado na questão pode ser compreendido como modalização, uma vez que o subjuntivo permite à autora expressar dúvidas e reflexões internas sobre sua atitude em relação às conversas com a família. No trecho, o uso do subjuntivo modula a forma como o narrador comunica suas emoções e incertezas sobre o posicionamento em relação à identidade e à percepção dos outros.
Subjuntivo como
modalizador textual
(página 193)
Para desenvolver melhor o tema, oriente os estudantes a consultar o mapa mental dos modalizadores discursivos, apresentado no Estudo do Gênero Textual, na página 187. Sugere-se explicar aos estudantes que as escolhas verbais também podem ser realizadas com intenções modalizadoras, assim como a escolha de outros vocábulos. Esse recurso também é útil na resolução da questão 4 desse item.
A língua em uso
(páginas 195 e 196)
• Na atividade 8, é tratada a proximidade fonológica entre fizeste e fizesse. No momento da pronúncia, ajude os estudantes a identificar o movimento da língua para tocar o palato e os dentes na pronúncia
de /st/, o que necessita de uma oclusão completa da saída do ar; para a pronúncia do /ss/ (substituição do indicativo pelo subjuntivo), o ponto de articulação não precisa de oclusão, sendo, assim, mais fácil. Explique aos estudantes que esse não é um movimento consciente, mas ocorrido pelo uso que os falantes fazem da língua em alguns estados da região Nordeste.
Indicações
• O livro do linguista brasileiro Luiz Carlos Travaglia indicado a seguir apresenta as relações entre os verbos, suas formas e a maneira como se articulam na construção de diferentes sentidos. Recomenda-se a leitura para aprofundamento no assunto.
TRAVAGLIA, Luiz Carlos. O aspecto verbal no português: a categoria e sua expressão. 5. ed. Uberlândia: Edufu, 2016. Disponível em: https://books.scielo.org/id/jm3g9/pdf/ travaglia-9786558240143.pdf. Acesso em: 29 set. 2024.
Modo imperativo
(página 196)
• S e julgar pertinente, explique aos estudantes a relação entre o imperativo e os outros modos verbais. Pode-se ainda explorar as modulações de intensidade do imperativo. Exemplo: uma ordem direta como “Pare!” pode soar como mais imperativa do que uma solicitação suave como “Socorro, me ajude”. A situação e a escolha de vocabulário são fundamentais para transmitir a intenção correta do falante ao usar o modo imperativo.
(página 197)
10. Sugere-se ler o texto “Dicas para o equilíbrio mental” destacando a relevância de discutir o tema no ambiente profissional e também na escola. Sugere-se perguntar aos estudantes se eles concordam com as dicas e se colocam alguma delas em prática no dia a dia. Ao final da atividade, é possível solicitar aos estudantes que produzam novas dicas para complementar a lista, ressaltando que, para isso, devem colocar em prática o uso do imperativo e/ou do infinitivo usado para dar conselhos.
(páginas 200 e 201)
Motivar a criação
(página 200)
• A proposta tem como objetivo a escrita de um relato pessoal de cada estudante da turma e a posterior divulgação desses relatos em livro impresso e digital. Antes de propor o início da escrita do relato propriamente dito, reúna a turma em duplas ou grupos para responder às questões dessa etapa, pois isso contribuirá para aprofundar o repertório dos estudantes. Or iente a releitura dos textos apresentados no Capítulo e a busca de outros relatos de experiência vivida para que os estudantes possam ampliar o próprio repertório nesse gênero textual.

Planejar e elaborar
(páginas 200 e 201)
Oriente os estudantes a planejar o relato de experiência vivida individualmente, com base no passo a passo apresentado. Ressalte a importância do uso de verbos condizentes com as situações narradas.
Destaque também a importância de os estudantes criarem uma primeira versão do texto, que pode ser lida por um colega e pelo professor, para receber críticas e fazer possíveis ajustes. Reforce os benefícios da reescrita para a criação de um texto consistente.
(página 201)
• O objetivo da etapa é que os estudantes reflitam sobre a própria escrita, localizando no texto os trechos que respondem às questões feitas; caso eles não as encontrem, incentive-os a reescrever trechos e inserir informações. Outra possibilidade é os estudantes trocarem de texto com um colega para que este verifique se as perguntas estão respondidas no texto. Pode-se, ainda, retomar
coletivamente esses itens; assim, será possível tirar dúvidas surgidas no processo.
(página 201)
• Para a divulgação na escola, é possível criar a versão impressa dos relatos, como se fosse um livro. Para isso, oriente os estudantes a utilizar programas de edição de textos e/ou de imagens (caso seja importante usá-las) para organizar os relatos.
• Para fazer a divulgação digital dos relatos, organize os textos na página da escola (se houver). Os estudantes podem, ainda, criar um blogue do projeto ou uma pasta compartilhada com a comunidade escolar em que os relatos estejam em formato PDF.
(página 202)
(página 202)
• Sugere-se fazer as questões propostas oralmente e, em seguida, dê um tempo aos estudantes para que as respondam. Outra possibilidade é dividir a turma em grupos para a realização da atividade e, ao final, propor que cada grupo apresente as respostas dadas, por meio da leitura do que foi escrito.
(página 202)
• Possibilite aos estudantes momentos de silêncio e introspecção para que possam relembrar seu desempenho nas propostas do Capítulo. Com base em sua observação dos estudantes e das particularidades de cada um, ajude-os a construir, na coluna de observações do quadro, estratégias para avançar em pontos que precisem de ajuste e nos quais possam desenvolver as aprendizagens.
(página 204 a 241)
• Competências gerais: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10

Competências específicas: 1, 2, 3, 4, 6 e 7
Habilidades de Linguagens: EM13LGG101, EM13LGG102, EM13LGG103, EM13LGG104, EM13LGG201, EM13LGG202, EM13LGG203, EM13LGG204, EM13LGG302, EM13LGG303, EM13LGG304, EM13LGG305, EM13LGG401, EM13LGG402, EM13LGG601, EM13LGG602, EM13LGG604, EM13LGG701 e EM13LGG704
Habilidades de Língua Portuguesa: EM13LP01, EM13LP02, EM13LP03, EM13LP04, EM13LP05, EM13LP06, EM13LP10, EM13LP11, EM13LP12, EM13LP13, EM13LP14, EM13LP15, EM13LP16, EM13LP20, EM13LP23, EM13LP24, EM13LP25, EM13LP30, EM13LP32, EM13LP46, EM13LP49, EM13LP50 e EM13LP52
Compreender o modo como os elementos da narrativa se estruturam no gênero literário conto e analisar o conceito de escrevivência.
Relacionar o gênero musical rap ao texto literário, associando elementos do campo artístico-literário.
Analisar criticamente um discurso de posse, para reconhecimento de ideologias e posicionamentos, considerando estruturação e estilo através da linguagem verbal e de recursos cinestésicos.
• Reconhecer intertextualidade, interdiscursividade e estratégias argumentativas presentes em um discurso de posse.
• Analisar efeitos de sentido decorrentes dos usos de figuras sonoras de linguagem como recurso de construção estilística.
• Reconhecer o fenômeno da variação linguística para refletir criticamente sobre variedades de prestígio e variedades estigmatizadas, para a construção de um repertório de combate ao preconceito linguístico
• Planejar, produzir, revisar e compartilhar a escrita de um discurso de posse de Ministério, colocando-se em projeção em um cargo de chefia de Estado.
(páginas 204 e 205)
• A temática a respeito dos diferentes discursos e vivências se dará ao longo do Capítulo por meio de propostas que abordam diferentes linguagens, tanto artísticas quanto literárias. Assim, os campos artístico-literário e de atuação na vida pública serão trabalhados de modo a desenvolver o TCT Multiculturalismo: Educação para a valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais brasileiras.
• Sugere-se contextualizar a imagem por meio da leitura da legenda e, se possível, apresentar a pintura Mestiço usada como base por Del Nunes para criar a sua colagem digital. Essas ações mobilizam aprendizados ligados à fruição, à observação e, mais especificamente, à competência geral 3 da BNCC e as habilidades EM13LGG101 e EM13LGG103, pois incentivam os estudantes a compreender processos de produção de discursos em diferentes linguagens para interpretar seus sentidos e produzir significados.
• Pode-se incentivar os estudantes a fazer uma leitura inicial das questões, pois isso contribui para a compreensão textual e ajuda a retomar os conhecimentos discutidos ao longo da observação da imagem. Em seguida, é possível fazer as atividades oral e coletivamente; se preferir, os estudantes podem realizar as atividades em duplas ou em trios.
• Sugere-se orientar os estudantes a registrar as respostas no caderno.
• As informações apresentadas e discutidas contribuirão para a realização das atividades. Ao longo de todas as questões, é importante os estudantes retomarem seus conhecimentos prévios sobre língua e identidade e as artes visuais como maneira de representação e de construção dessa identidade, o que contribui para compreender, também, os aspectos culturais.
1. Respostas pessoais. É importante indicar aos estudantes que a principal colagem que aparece na
obra de Del Nunes é a do personagem da obra Mestiço, de Candido Portinari. A ele são adicionados elementos contemporâneos, como uma comunidade compondo a paisagem de fundo e substituindo a lavoura de café da obra original, uma mochila, óculos escuros, luzes no cabelo e dois livros que abordam questões da negritude.
5. A questão aciona conhecimentos prévios dos estudantes sobre as formas de construção da identidade por meio da língua. Espera-se que eles recuperem saberes sobre variação linguística e a diversidade de falares brasileira.

Para ampliar a discussão sobre a obra de Candido Portinari, acesse o site a seguir.
PROJETO PORTINARI. São Paulo, [20--]. Site. Disponível em: www.portinari.org.br/. Acesso em: 4 out. 2024. O ar tista Mundano (1986-) usou as cinzas das queimadas da Amazônia, em 2021, para criar um mural que faz uma releitura da obra O lavrador de café (1934), de Portinari. Indica-se conhecer mais sobre a criação de Mundano no blogue a seguir.
NUNES, Mônica. O artivista Mundano conclui releitura de Portinari com cinzas da floresta e emociona brigadista que inspirou a obra. In: CAMARGO, Suzana; NUNES, Mônica. Conexão planeta. [S. l.], 19 out. 2021. Blogue. Disponível em: https://conexaoplaneta.com. br/blog/o -artivista-mundano-conclui-releitura- de -portinari-com-cinzas-da-floresta-e-emociona -brigadista-que-inspirou-a-obra/. Acesso em: 4 out. 2024.
(página 206 a 214)
Sugere-se propor as questões da seção Primeiro olhar antes da leitura do conto. O objetivo das questões é permitir aos estudantes refletir sobre a construção literária, ativando seus conhecimentos prévios sobre o gênero literário conto e levantando hipóteses sobre as ideias presentes no texto “Os pés do dançarino”, de Conceição Evaristo. Considerando o título, os estudantes podem imaginar um protagonista que saiba dançar muito bem. Pode-se incentivá-los a expandir as possibilidades, perguntando sobre características físicas, emocionais e psicológicas do protagonista,
além de ideias sobre o enredo, o tempo e o cenário, ou seja, outros elementos da narrativa.
(página 208 a 210)
1. b) Espera-se que não haja semelhança entre a imprevisibilidade imaginada pelos estudantes e o modo como esse recurso é utilizado na obra. A questão abre espaço para incentivar uma discussão entre a turma sobre o modo como o conto poderá explorar elementos imaginários. Essa discussão será aprofundada no decorrer das atividades.
3. b) Espera-se que os estudantes compreendam que tal atitude tem origem em uma visão preconceituosa de que apenas meninas podem dançar balé. Para enriquecer a discussão em sala, é possível explicar aos estudantes que o balé foi criado por homens e até a metade do século XVII só era permitido aos homens serem dançarinos profissionais de balé, estimulando todos a pensar nas características da sociedade que resultaram na visão cristalizada do balé como uma prática feminina.
4. b) Espera-se que os estudantes reconheçam que o efeito de sentido gerado pela apresentação sequencial desses termos é o de enfatizar as habilidades de Davenir e a sua propensão à dança.
5. b) Espera-se que os estudantes reconheçam que termos como “arte dos pés” e “competência nos pés” destacam o domínio técnico e a versatilidade de Davenir, já expressões como “pé de valsa” e “pé de ouro de todas as danças” demonstram sua reputação elevada no mundo da dança.
8. a) Espera-se que os estudantes associem a divisão da narração da história com a possibilidade de ser uma história não só escrita, mas também narrada por populações socialmente minoritárias. No conto, além do protagonista Davenir, são mostradas três emblemáticas personagens, as anciãs da cidade, marcantes na história do protagonista e da cidade.
Narrativa e ancestralidade
(páginas 210 e 211)
e comentários
10. a) O primeiro momento refere-se à trajetória de Davenir como um dançarino talentoso e inclui a
descrição de suas habilidades, o reconhecimento que ele recebe e a celebração de seu talento. O segundo momento refere-se à transformação de Davenir que, ao retornar para a Dançolândia, não reconhece sua ancestralidade. O foco muda para a perda simbólica de seus pés e para a necessidade de o protagonista se reconectar com suas raízes e memórias.
(página 211 a 214)

A análise da letra de rap de Rincon Sapiência permite aos estudantes observar, de uma perspectiva distinta do conto de Conceição Evaristo, a história e a ancestralidade do povo negro. Enquanto o personagem Davenir apaga a sua origem, o eu lírico de “A coisa tá preta” ressalta a importância da cultura negra ao longo da história e a reivindica para o povo preto. Se possível, faça com os estudantes uma leitura coletiva e em voz alta da letra da canção, pedindo aos que se sentirem à vontade para ler versos ou estrofes. Combine com a turma, previamente, como isso será feito. Ressalte a importância da entonação, da fluência leitora, do respeito às pausas e à pontuação.
É possível sugerir aos estudantes que façam as atividades em duplas ou em trios e incentivá-los a se expressar ao longo das correções das questões. Isso promove a reflexão a respeito das aprendizagens, ampliando aspectos ligados à autonomia dos adolescentes.
2. b) Resposta pessoal. Sugere-se orientar os estudantes a pesquisar sobre as personalidades em fontes confiáveis e ligadas ao movimento negro e a analisar os dados antes de registrá-los.
2. c) Essas personalidades são tratadas como símbolos de resistência, coragem e orgulho. Ao referenciar tais figuras históricas, o eu lírico resgata a memória de luta e bravura dos seus antepassados, fortalecendo o senso de identidade e pertencimento.
3. a) Em “Os pés do dançarino”, a dança é descrita como uma expressão que faz parte da identidade do personagem principal e da identidade da comunidade onde esse personagem cresceu. Assim,
a dança é percebida como um meio de se conectar com essa comunidade. Em “A coisa tá preta”, a dança é apresentada como uma forma de resistência e celebração da cultura negra.
3. b) Em “Os pés do dançarino”, é por meio da dança que o protagonista encontra o seu caminho profissional, embora, no processo, ele se desconecte da sua ancestralidade. Na música “A coisa tá preta”, a dança é percebida como um ato de empoderamento e um símbolo de força coletiva. A dança é usada como uma ferramenta para expressar a identidade e desafiar a opressão, destacando a alegria e a resiliência da comunidade negra.
3. c) Em “Os pés do dançarino”, a dança é uma fonte de alegria, liberdade e autoaceitação. Ela proporciona um escape emocional e um meio de expressão pessoal. Socialmente, a dança é colocada como um elo que conecta o personagem com outros que compartilham essa tradição. Na música “A coisa tá preta”, a dança simboliza alegria, resistência e orgulho em meio à adversidade. Socialmente, a dança fortalece a coesão da comunidade negra, promovendo um sentimento de solidariedade e de luta coletiva.
4. No contexto da música, o eu lírico utiliza a expressão “a coisa tá preta” para se referir à força, beleza e resistência da população negra. A repetição enfática da frase reverte o estigma associado à cor preta, transformando-a em um símbolo de orgulho e de identidade cultural.
5. Durante a elaboração da resposta, espera-se que os estudantes compreendam que o rap é uma manifestação artística que tem como ponto de partida a experiência do artista, o que permite a sua associação com o termo escrevivência. Além disso, o rap é uma manifestação culturalmente associada à população negra e marginalizada, e tem como objetivo criar um espaço para a afirmação e resistência dessas populações.
• Para ampliar os conhecimentos sobre o artista Rincon Sapiência, sugere-se propor aos estudantes a leitura da entrevista a seguir.
SAPIÊNCIA, Rincon. “Artista não precisa baixar o nível para falar com a quebrada”, diz Rincon Sapiência. [Entrevista cedida a] Guilherme Henrique. Le Monde Diplomatique Brasil. [S l.], 12 mar. 2020. Disponível em: https://diplomatique.org.br/artista-nao-precisa -baixar-o-nivel-para-falar-com-a-quebrada-diz-rincon -sapiencia/. Acesso em: 4 out. 2024.
(páginas 215 e 216)
• Ao longo do Capítulo, os estudantes tiveram contato com o gênero conto e puderam retomar algumas características do gênero. A proposta da oficina é a produção autoral do gênero.
• Para que os estudantes produzam o conto, sugere-se deixá-los livres para escolher as duplas de trabalho.

Se possível, oriente-os a ler as etapas da produção e fazer anotações a cada item, pois isso será fundamental para a escrita do conto. Ressalte com os estudantes que esse planejamento contribui para os projetos de dizer.
Na etapa Avaliar e recriar , pode-se destacar a importância da reescrita do texto para a realização de possíveis ajustes. O tema reescrita é muito discutido em diversas áreas do conhecimento e, no que se refere às linguagens, reescrever deve ser parte integrante do processo de ensino da escrita.
Pode-se propor aos estudantes trocar os textos escritos com outras duplas para análise do conto dos colegas, escrevendo os pontos positivos e os pontos de melhoria. Isso pode ser feito a partir de rubricas, tendo como base aspectos como: ortografia, estrutura do gênero, adequação ao tema, coesão e coerência. Incentive uma postura respeitosa e gentil durante a realização da atividade.
(páginas 217 e 218)
Ao longo do Capítulo, os estudantes são convidados a refletir sobre identidade cultural e de que maneira isso se apresenta por meio de diferentes textos e representações artísticas, o que aprofunda e amplia os conhecimentos sobre a formação multicultural do Brasil, além de promover questões ligadas à cidadania e aos direitos humanos.
1. Lélia Gonzalez define a consciência como o lugar do desconhecimento, da alienação e do encobrimento, o espaço onde o discurso ideológico atua de forma dominante, ocultando outras verdades.
A memória, por outro lado, é descrita como o não saber que conhece, um lugar que resgata uma história não escrita e possibilita a emergência da verdade. Portanto, enquanto a consciência exclui e rejeita, a memória inclui e revela.
2. É importante auxiliar os estudantes a perceber a contradição dialética entre memória e consciência. Segundo Lélia Gonzalez, isso reside no fato de que a consciência tenta ocultar ou rejeitar a memória ao afirmar uma “verdade” dominante. No entanto, a memória desafia o discurso da consciência, fazendo-se presente nas falhas desse discurso. Assim, enquanto a consciência busca suprimir a memória, esta encontra maneiras de emergir, revelando histórias e verdades ocultas. Essa tensão entre ocultamento e revelação caracteriza a relação dialética entre os dois conceitos.
3. Uma hipótese sobre o uso da coloquialidade por Lélia Gonzalez e Thiago Torres é que essa escolha linguística visa aproximar o discurso dos intelectuais das pessoas que fazem parte de suas comunidades, especialmente das periferias e da população negra. Ao utilizarem gírias e coloquialidade, eles rompem com a rigidez acadêmica, tornando seus argumentos mais acessíveis.
4. Respostas pessoais. Espera-se que os estudantes reconheçam que o rap articula os conceitos de consciência e memória ao resgatar as histórias e vivências das comunidades periféricas, que muitas vezes são silenciadas ou distorcidas pela sociedade dominante.
5. É importante que os estudantes percebam que a ocupação da universidade por jovens da periferia é fundamental porque permite o confronto entre a consciência dominante, que frequentemente marginaliza suas histórias e experiências, e a memória dessas comunidades, que carrega saberes e histórias que precisam ser reconhecidos e validados. Ao ocuparem esses espaços, esses jovens não apenas desafiam a exclusão histórica imposta pelo discurso da consciência dominante, mas também trazem suas memórias e vivências para o ambiente acadêmico, enriquecendo o conhecimento produzido e contribuindo para uma educação mais representativa.
(página 219 a 230)
• Antes de propor a leitura do texto, sugere-se fazer as atividades do boxe Primeiro olhar para que os

estudantes levantem hipóteses e antecipem conhecimentos com base nas próprias vivências.
• Na primeira questão do boxe Primeiro Olhar, sugere-se permitir aos estudantes criar hipóteses, que serão verificadas após a leitura do texto. É possível que alguns estudantes comentem sobre a possibilidade de a atriz falar sobre sua trajetória nas artes cênicas, embora a ABL seja uma instituição cultural cujo objetivo é o cultivo da língua e da literatura nacional.
Na segunda questão do bo xe Primeiro Olhar , espera-se que os estudantes citem discursos de professores e estudantes em formaturas, discursos em manifestações, discursos em prêmios de música televisionados. É importante que os estudantes definam os interlocutores como os envolvidos no processo de enunciação. Incentive-os a perceber que o gênero textual discurso de posse não está distante do cotidiano deles e que a intencionalidade de um discurso se altera a depender dos interlocutores.
(página 223 a 225)
Na questão 4, apresenta-se um conjunto de informações sobre as referências mencionadas no discurso de posse de Fernanda Montenegro. Se possível, incentive os estudantes a ampliar essas informações e a compartilhar com a turma suas descobertas.
Composição e contexto do discurso de posse
(páginas 226 a 228)
9. Sugere-se explicar aos estudantes que, embora as alternativas II e III sejam também verdadeiras quanto ao discurso, elas fazem parte da comprovação da tese central e, por isso, são consideradas tópicos frasais, ou seja, afirmações que iniciam um parágrafo argumentativo em prol da tese. A progressão da argumentação com a abordagem do tópico frasal será abordada no Volume 2 desta coleção.
(páginas 228 e 229)
• A seção propõe reflexões sobre a interação entre oralidade e escrita por meio da análise das características dos discursos de posse. É interessante resgatar o conhecimento construído ao longo dos anos de escolarização e explorar as diferenças entre os campos oral e escrito.
12. Nesta atividade procurou-se trazer para o suporte impresso algumas possibilidades do trabalho com a oralidade e os recursos cinestésicos (postura corporal, movimentos, gestualidade significativa, expressão facial, contato visual com a plateia, entre outros). Para proporcionar uma abordagem mais proficiente relacionada a esses recursos, sugere-se transmitir o discurso da atriz aos estudantes (disponível em: www.youtube.com/ watch?v=l9sRjrao8Tk&t=9s; acesso em: 4 out. 2024).
12. c) Espera-se que os estudantes infiram que os gestos complementam a fala da atriz, mas nem sempre é possível planejá-los conscientemente. De todo modo, é possível pensar em alguns gestos estratégicos, tal como preveem os atores em representações no teatro, por exemplo, para que o discurso se torne ainda mais persuasivo.
(páginas 229 e 230)
• Ao apresentar o boxe Mundo do trabalho, na página 230, os estudantes serão incentivados a pesquisar sobre a profissão de ghost writer. O objetivo é motivar os estudantes a entrar em contato com a história dessa profissão e com as empresas e pessoas que costumam contratá-la, como políticos, celebridades, casas editoriais etc. Para o mural virtual, indica-se o Padlet (disponível em: https://padlet.com/; acesso em: 4 out. 2024). É possível indicar aos estudantes o uso da versão gratuita desse aplicativo.
• Na questão 3, da página 230, é sugerido questionar o conhecimento dos estudantes sobre Zumbi dos Palmares, um dos líderes do Quilombo dos Palmares, símbolo de resistência e luta contra a exploração

portuguesa no século XVII. Caso haja tempo hábil, solicite uma pesquisa sobre a vida e os feitos desse importante líder.
1. Sugere-se a leitura das seguintes informações aos estudantes: Martin Luther King Jr. foi um pastor batista e ativista político estadunidense que se tornou a figura mais proeminente e o líder do movimento dos direitos civis dos negros e da luta contra o racismo nos Estados Unidos, trajetória pela qual ganhou o Prêmio Nobel da Paz, em 1964. Ele é conhecido pela aplicação de princípios, como a desobediência civil e a não violência. King auxiliou na organização da Marcha sobre Washington, na qual ditou seu famoso discurso, cujo trecho foi apresentado aos estudantes.
3. b) Espera-se que os estudantes percebam que a repetição das orações, além de reforçar as ideias que elas representam, gera uma ênfase para criar um ritmo e intensifica o impacto do discurso, atraindo a atenção de leitores e ouvintes, permitindo às proposições feitas serem lembradas.
(página 231 a 237)
2. a) Indica-se explicar aos estudantes que esse efeito de dificuldade é criado por meio da articulação dessa letra em posição de encontro consonantal, que obstrui a passagem do ar na boca, fazendo vibrar a língua.
3. c) Sugere-se construir um quadro com duas colunas na lousa e pedir a alguns estudantes (escolhidos ou voluntários) para completá-lo, de acordo com as respostas a seguir.
Sons vocálicos:
É Zum / É Zum / É Zum / É Zumbi / Zumbi de Ogum – repetição do /u/;
Na praça na raça / Na reza fumaça – repetição do /a/;
Na fala na sala / Na rua na lua / Na vida de cada dia – repetição do /u/ e do /a/.
Sons consonantais:
É Zum / É Zum / É Zum / É Zumbi / Zumbi de Ogum – repetição do /z/;
Na praça na raça / Na reza fumaça – repetição do /r/;
De incenso no ar / No canto de encanto – repetição da nasalização /n/;
No samba de samba / No bumba meu boi / No bombo do jongo – repetição da nasalização /m/; Guerreiro da Serra / Sob as estrelas acesas – repetição do /r/;
Na madrugada / Nó do ebó na encruzilhada – repetição do /r/ em posição de encontro consonantal.
(página 233 a 236)
Indicações

• O livr o A língua de Eulália , de Marcos Bagno, combina ficção e conhecimento linguístico para discutir o preconceito linguístico no Brasil. A história gira em torno de três universitárias que passam suas férias na casa da professora Irene, onde têm a oportunidade de conhecer Eulália, uma mulher do interior que fala uma variedade popular do português, o que traz às personagens – e aos leitores – muitas reflexões. BAGNO, Marcos. A língua de Eulália: novela sociolinguística. São Paulo: Editora Contexto,1997. Capa.
5. a) É possível que os pesquisadores tenham desejado manter a fala o mais fiel possível ao momento de interação.
8. c) É provável que os estudantes afirmem não ter compreendido a fala, pois ela é carregada de jargões empresariais. Pode-se orientá-los a perceber
que essa interlocução pode ser facilitada com vocabulários mais simples, no entanto, elas refletem o comportamento de um determinado grupo social e que poderá passar a ser conhecida por eles quando estiverem em determinados contextos do mundo do trabalho. Ainda assim, sugere-se promover reflexões que os incentivem a informar para o interlocutor que não compreenderam a mensagem.
(página 236)

Incentive os estudantes a pensar sobre as variações linguísticas e a desenvolver uma postura respeitosa para os diferentes falares e escreveres existentes no país, evitando qualquer tipo de preconceito linguístico. Ressalte a importância da variação linguística como mais um fator de construção da identidade de diferentes grupos sociais que se pautam na língua como forma de existir, de se reconhecer pertencente a um grupo social ou a uma região, entre outros fatores.
9. c) É importante considerar que nós e a gente representam um coletivo de eu + outra(s) pessoa(s). No entanto, a gente, já considerado como forma pronominal pela gramática, conjuga-se na terceira pessoa do singular, e não na primeira do plural, como o nós. O falante faz, então, uma correspondência desse sentido: se nós deveria ser conjugado com somos (primeira pessoa do plural), então, a gente também deveria. Analogamente, se a gente deveria ser conjugado com é (terceira pessoa do singular), então, nós também deveria.
9. d) Espera-se que os estudantes cheguem à conclusão de que as expressões apresentam estigma e são consideradas popularmente como erros, incorrendo em preconceito linguístico com quem as fala. No rap, por ser um gênero artístico de representação das populações urbanas marginalizadas e, portanto, estigmatizadas, opta-se por manter também as marcas linguísticas que caracterizam esse estigma, como forma de identidade dessa comunidade periférica.
Atividades
(página 237)
Respostas e comentários
2. b) Comente com os estudantes que, ao se conhecer a origem de palavras e expressões, fica evidente o
quanto a língua carrega em si as marcas da cultura e da história de seus falantes.
(páginas 238 e 239)
• A proposta tem como objetivo fazer os estudantes imaginarem uma situação de posse ministerial para que possam escrever o discurso que será compartilhado com a turma. Antes de propor o início da escrita do discurso, reúna a turma em duplas ou grupos para Estudar a proposta e Motivar a criação e, assim, responder às questões, pois isso contribuirá para aprofundar o repertório dos estudantes.
• Pode-se orientar a releitura dos textos apresentados no Capítulo e a busca de outros discursos, inclusive os de ministros de estado, pois, com isso, os estudantes ampliam o repertório e se apropriam do gênero.
• Sugere-se orientar os estudantes a planejar o texto individualmente, com base no passo a passo apresentado. Ressalte a importância do uso de palavras e expressões que revelem as características do gênero discurso.
• S e possível, destaque, ainda, a importância de os estudantes criarem uma primeira versão do texto, que pode ser lida por um colega e pelo professor, para, dessa maneira, receber críticas e fazer possíveis ajustes. Reforce os benefícios da reescrita no processo de escrita de um texto.
• O objetivo desta etapa é que os estudantes reflitam sobre a própria escrita, localizando no texto os trechos que responderiam às questões feitas; caso não encontrem, sugere-se incentivá-los a reescrever trechos, inserir informações, inserir ou suprimir partes do que foi escrito. Outra possibilidade é os estudantes trocarem de texto com um colega para que este verifique se as questões estão respondidas no texto. Pode-se, ainda, retomar coletivamente esses itens, assim será possível tirar dúvidas surgidas no processo.
• Para a divulgação, é possível criar a versão impressa dos discursos.
• É possível, ainda, filmar os discursos e, em seguida, assisti-los, para observar a leitura, os momentos de improviso, o gestual, a entonação, entre outros aspectos.

(página 240)
Sintetizar
Faça as questões propostas oralmente e, em seguida, dê um tempo aos estudantes para que as respondam. Outra possibilidade é dividir a turma em grupos para a realização da atividade e, ao final, cada grupo apresenta as respostas dadas, por meio da leitura do que foi escrito.
1. O mapa mental deve apresentar que os elementos da narrativa são: apresentação: onde são apresentadas as características dos personagens, cenário e enredo; desenvolvimento: que explora os principais acontecimentos da história e contém o clímax, momento de maior tensão da narrativa; e desfecho: que apresenta uma solução para o conflito.
2. Espera-se que os estudantes apontem, no parágrafo elaborado, que o rap faz uso da linguagem para criar imagens, assim como a literatura. Além disso, o rap frequentemente inclui técnicas como rima e figuras de linguagem. O rap pode ser associado ao conceito de escrevivência porque muitas vezes tem por objetivo retratar a experiência de um artista e a sua vivência coletiva na periferia.
3. Os aspectos a se considerar na resposta são: alusão histórica: referência a acontecimentos ou personagens históricos; raciocínio lógico: indicação de conexões entre causa e efeito; comprovação: apresentação de dados, estatísticas e fontes confiáveis; comparação: indicação de paralelo ou contraste
entre partes; citação: menção a texto ou trecho extraído de outra fonte; exemplificação: apresentação de exemplos ou casos concretos; enumeração: apresentação de diferentes argumentos de forma organizada.
4. É importante que os estudantes compreendam que o discurso é um gênero textual fundamentalmente oral, ou seja, construído para ser falado e direcionado a um público ouvinte. É comum que o discursante escreva o texto do discurso, que posteriormente será falado, o que não impede que, no ato da fala, acrescente a ele marcas de oralidade. Quando o gênero textual discurso de posse é proferido no universo político é esperado que os tipos expositivo e dissertativo ganhem destaque no texto. Com isso, o discurso expõe informações importantes e busca defender uma ou mais teses, apresentando argumentos que as sustentem.
5. Variação linguística refere-se às diferenças no uso da língua que ocorrem entre grupos sociais, regiões geográficas ou contextos situacionais. Essas variações podem ser categorizadas em variedades, que são conjuntos de características linguísticas compartilhadas por um grupo, e variantes, que são as diferentes formas que uma mesma palavra ou estrutura pode assumir. O preconceito linguístico é a discriminação e os estigmas associados a determinadas variedades ou variantes, muitas vezes resultando na valorização de uma forma de linguagem em detrimento de outras. Essa dinâmica revela não apenas a riqueza da língua, mas também as questões sociais e culturais que permeiam sua utilização.
6. As figuras sonoras de linguagem, como aliterações, assonâncias e onomatopeias, têm o poder de intensificar os efeitos de sentido em um texto, criando ritmos e sonoridades que enriquecem a experiência do leitor ou ouvinte. Por exemplo, a aliteração, que consiste na repetição de sons consonantais, pode transmitir uma sensação de musicalidade e fluidez, enquanto a assonância, com a repetição de sons vocálicos, pode evocar emoções específicas ou estabelecer um tom melancólico. Já as onomatopeias, que imitam sons da natureza ou de ações, tornam a descrição mais vívida e envolvente. Esses recursos não apenas embelezam a linguagem, mas também reforçam o conteúdo e a mensagem, tornando a comunicação mais expressiva e memorável.
(página 242 a 252)
Competências e habilidades do Projeto

Competências gerais: 1, 2, 4, 5, 6 e 10
Competências específicas: 1, 3, 4 e 7
Habilidades de Linguagens: EM13LGG305, EM13LGG701 e EM13LGG702
Habilidades de Língua Portuguesa: EM13LP01, EM13LP12, EM13LP36, EM13LP39, EM13LP40, EM13LP41, EM13LP42, EM13LP47, EM13LP51 e EM13LP53
Criar uma agência de checagem de notícias.
Reconhecer as diferenças entre fake news e informações verdadeiras.
Analisar a composição de textos
Reconhecer e analisar as relações de fact-checking
Desenvolver empatia e colaboração em trabalhos em grupo.
O Projeto consiste em criar uma agência de checagem de notícias e, para isso, os estudantes terão, ao longo das etapas de desenvolvimento, um conjunto de ações que visam subsidiar o produto e seus respectivos resultados.
• O desen volvimento do Projeto possibilita um trabalho com os TCTs Multiculturalismo e Ciência e tecnologia, pois permitirá aos estudantes fazer um uso ético e consciente das informações pesquisadas e levar à comunidade escolar os eventos checados, incentivando todas as pessoas a ter uma relação saudável com os diferentes conteúdos que circulam por diversos espaços, sobretudo os digitais.
(página 242 a 244)
• Para criar uma zona de desenvolvimento proximal com os estudantes em relação ao que são as fake news , optou-se inicialmente por uma abordagem que despertasse a curiosidade deles em relação a como elas se iniciam e se propagam por meio do contexto midiático e do imaginário das pessoas, antes de propor uma ampla discussão sobre o conceito e o fenômeno em si. É importante que os estudantes compreendam essa contextualização da mentira no universo midiático para, em seguida, notar como, atualmente, as fake news tornam-se um problema maior por causa do contexto das redes sociais e do amplo acesso à internet.
• C aso identifique a necessidade de ampliar essa discussão inicial, sugere-se a leitura da reportagem sobre outro caso de fake news que apareceu antes de o termo se popularizar em: www.bbc.com/ portuguese/articles/cn49mgv737po (acesso em: 7 out. 2024).
• Para esse trabalho de ampliação do tema, recomenda-se o compartilhamento da reportagem com os estudantes e a realização de leitura exploratória, com interpretação coletiva do texto. Incentive os estudantes a fazer questionamentos que lhes permitam refletir sobre o poder das notícias falsas no universo midiático.
• Destaca-se a importância de os estudantes criarem uma primeira versão do texto, que pode ser lida por um colega e pelo professor, para depois fazerem possíveis ajustes. Reforce os benefícios da reescrita para a criação de um texto consistente.
• Suger e-se que os estudantes se organizem em duplas para realizar a leitura do texto e das questões. Antes de fazer as atividades, sugira a todos que façam um resumo do que leram, destacando as principais ideias.
• Sugere-se, também, que eles façam uma pesquisa referente ao lago Ness e à criação da história sobre o monstro para ampliar o repertório a respeito do assunto.
• Pode-se mencionar como a mentira não é exclusiva do contexto contemporâneo e mesmo assim era aceita e espalhada dentre inúmeras pessoas. Também questionar os estudantes se as pessoas acreditam nas histórias por desejo de que o mistério seja real ou porque a repetição da mentira aumenta sua autenticidade.
• Para iniciar as atividades, recomenda-se que eles pesquisem sobre as fake news , aprofundando-se em suas características. Para isso, é possível se valer de práticas do pensamento computacional como o reconhecimento de padrões. Com base na leitura e na discussão da reportagem, amplie o debate promovendo uma identificação de padrões da notícia falsa em diferentes contextos.

2. a) A deepfake gera notícias e conteúdos falsos mais difíceis de serem identificados como tal por apresentarem um falso ar de veracidade (deep, em inglês, significa “profundo”; então, a tradução literal de deepfake seria “falsidade profunda”). Em razão das técnicas de manipulação utilizadas (distorção de voz, troca de imagens, alteração de contexto etc.), pode-se, em um primeiro momento, não se identificar que se trata de um conteúdo falso.
2. b) No cartum, a deepfake aparece como uma criatura muito maior do que a verdade e a mentira, o que fica evidente por meio da análise dos elementos utilizados na construção visual, como o tamanho dos pés e das pernas da figura em relação às outras personagens.
2. c) Com a ajuda da inteligência artificial, torna-se possível criar uma realidade que aparenta ser verdadeira e precisa de técnicas apuradas para ser questionada, já que é possível utilizar técnicas para manipular características físicas em imagens e vídeos.
(página 244 a 245)
• Para a organização do cineclube, indica-se a leitura de todas as etapas com os estudantes. Peça a eles que se organizem em grupos de trabalho, de acordo com os interesses, as habilidades e as necessidades para a realização do evento.
• A sugestão do cineclube visa levar os estudantes a conhecer mais sobre fake news e a estudar esse fenômeno por meio de suas representações no cinema. Para isso, sugere-se que os estudantes assistam a documentários e filmes de ficção que contemplem as fake news e, por meio de pesquisas e discussões, ampliem seus conhecimentos sobre esse tema.
• S erá proposta uma curadoria de filmes com essa temática, que pode ser orientada com momentos de exibição na escola para todos. Se possível, convide outros educadores a participar dessa atividade do cineclube e da seleção dos filmes e documentários. Esse pode ser um espaço para educadores de Ciências Humanas promoverem a reflexão e estabelecerem conexão com outros componentes curriculares.
• Na primeira etapa do cineclube, é importante que os estudantes realizem tarefas operacionais para desenvolver autonomia e habilidades de resolução de problemas. Isso também permite que eles assumam o protagonismo na escola e ampliem a interlocução com outros membros da comunidade escolar, especialmente em cargos de decisão, com os quais tenham que conversar e negociar necessidades. Recomenda-se auxiliá-los nesse processo, intermediando quando necessário, para ajudá-los a alcançar essa autonomia.
• Na segunda etapa, se houver tempo hábil, possibilite o espaço de meia aula para os estudantes realizarem essas pesquisas, de forma on-line, caso haja infraestrutura disponível. Permita que troquem ideias e garanta que se preparem para apresentar os filmes escolhidos, na segunda metade da aula. Esse processo possibilita a troca de dicas de filmes e ampliação do repertório cultural dos estudantes.
• Sugere-se ajudar os estudantes a organizar uma lista de filmes sobre fake news e publicá-la em um espaço on-line da escola ou da turma (blogue, rede social, intranet etc.), em um cartaz ou mural da escola. Além de ser uma forma de divulgação do trabalho de pesquisa dos estudantes, contribui para a ampliação do repertório cultural de toda a comunidade escolar.
• Para ampliar o repertório de pesquisa, sugerem-se os documentários e filmes a seguir, no boxe Indicações. Chame atenção dos estudantes para a classificação indicativa, se necessário, pois isso poderá limitar a participação de turmas de outros anos na exibição dos filmes.


O DILEMA das redes. Direção: Jeff Orlowski. EUA: Exposure Labs, 2020. Streaming (94 min).
Esse documentário examina o impacto das redes sociais na sociedade, destacando como os algoritmos e a manipulação digital moldam comportamentos, influenciam a política e afetam a saúde mental. Ele traz depoimentos de ex-funcionários da indústria tecnológica, revelando os perigos ocultos por trás das redes sociais.

• DEPOIS da verdade: desinformação e o custo das fake news. Direção: Andrew Rossi. EUA: HBO, 2020. Streaming (95 min).
Esse documentário explora o impacto devastador das fake news na sociedade americana e analisa como a desinformação se propaga pelas redes sociais e seus efeitos se difundem na política, mídia e vida cotidiana, destacando os custos sociais e pessoais dessas mentiras.

• NÃO OLHE para cima. Direção: Adam McKay. EUA: Paramount Pictures, 2021. Streaming (143 min). Nesse filme, dois astrônomos sem expressividade acadêmica descobrem que um meteoro destruirá a Terra em pouco tempo. Eles passam a alertar a mídia e o governo, que, em conjunto, desenvolvem um plano de contingência da repercussão, chamado “Não olhe para cima!”. As consequências do negacionismo e das fake news começam, então, a ser vividas pela humanidade.
• A etapa de preparação (terceira etapa) é importante para o cineclube ganhar ainda mais relevância em relação ao compartilhamento de conhecimentos sobre o tema. Por isso, se for possível, organize espaços para que os estudantes façam esse preparo na escola, usando salas de informática ou biblioteca. Assim, será possível garantir maior participação dos estudantes.
• Já na etapa 4, or iente os estudantes a destacar pontos interessantes sobre o filme e a indagar a plateia sobre expectativas que tenham com o filme a partir da sinopse e do título.
(página 245 a 250)
• Durante o Projeto, é importante desenvolver habilidades de trabalho em equipe e cooperação. Para isso, as equipes devem ser heterogêneas, com REPRODUÇÃO/HBO
e
diferentes perfis de estudantes, como comunicativos, líderes, executores, planejadores, estrategistas, entre outros, e não apenas formadas por afinidade. A visão docente e o conhecimento da turma serão cruciais para organizar essa divisão.
• É impor tante que as etapas de pesquisa ocorram na escola, para que seja possível ajudar os estudantes na curadoria de informações confiáveis. Recomenda-se dedicar duas aulas para essa finalidade.

• Ao longo da primeira etapa, se a turma não estiver interagindo, recomenda-se retomar os questionamentos preparados antes da exibição. Todos devem incentivar as discussões, pois o cineclube é um espaço de aprendizado e troca de ideias, em que todos devem se sentir à vontade para opinar.
Na segunda etapa, sugere-se a leitura do infográfico que apresenta a identificação de notícias falsas com os estudantes. Recomenda-se dar um tempo para a turma realizar as atividades propostas. Neste momento, é importante orientar os grupos a escolher diferentes eixos para criar perguntas, garantindo diversidade; se houver três grupos, cada um deve trabalhar com dois eixos; se houver mais grupos, distribua para que ao menos dois grupos trabalhem os mesmos eixos. Depois, promova uma troca de ideias para que as perguntas sejam diversificadas.
Considerando que todo texto é criado a partir de um processo, é importante que os estudantes compreendam a segunda etapa como a primeira a elaboração do checklist. Incentive o envolvimento deles na elaboração dessa primeira versão que será aprimorada na terceira etapa.
C aso considere pertinente, apresente aos estudantes um modelo de checklist e ajude-os a sistematizar as características do gênero antes de organizá-lo (disponível em: https://www.tre-sp.jus. br/comunicacao/noticias/2023/Agosto/saiba-como -identificar-fake-news-ou-desinformacao; acesso em: 7 out. 2024).
• O objetivo da divisão dos grupos na terceira etapa é que os estudantes possam experimentar diferentes práticas de pesquisa (revisão bibliográfica, entrevista, estudo de caso etc.), ainda que não haja extremo rigor científico nessa prática, considerando as limitações do contexto escolar e o tempo didático para o desenvolvimento das atividades.
• A revisão do checklist e a elaboração do infográfico podem demorar em média 3 a 4 aulas. Pondere o tempo didático possível para realizar todas essas tarefas. Para colaborar com esta terceira etapa, dispõe-se, a seguir, alguns sites que podem apoiar os estudantes na busca de informações do que é o fact-checking. “O que é fact-checking?” (disponível em: https://apublica.org/checagem/2017/06/truco-o -que-e-fact-checking/; acesso em: 1 set. 2024); “O que é fact-checking?”. Disponível em: www.youtube.com/ watch?v=vSs8pStib5U. Acesso em: 1 set. 2024.
• Recomenda-se auxiliar os estudantes a desenvolver a autonomia pela busca de informações, tal como proposto na quarta etapa. Alguns dados que não estejam nos sites das agências ou em seus editoriais –aba Quem somos das páginas acessadas – podem ser obtidos por meio de uma consulta via Fale conosco, por exemplo. Esse processo pode requerer outras habilidades, como a redação de e-mails formais com questionamentos, solicitação de conversa etc.
• A quinta etapa consiste na checagem da avaliação do desempenho individual e dos grupos. Sugere-se que a autoavaliação ocorra em sala de aula, permitindo aos estudantes que discutam a dinâmica do trabalho em grupo.
• Sugere-se apoiá-los na organização das informações necessárias para o funcionamento da agência, mediando os acordos e incentivando o registro das decisões em locais acessíveis. Isso dará à agência uma identidade no contexto escolar.
• Incentive os estudantes a definir os papéis de forma independente e combinada entre eles, considerando suas habilidades individuais e coletivas. Conceda espaço para que eles façam a própria regulação desse processo, o que possibilitará a emersão de lideranças, o desenvolvimento de autonomia e de formas de resolução de problemas entre toda a turma.
Avaliar e recriar possibilidades (páginas 251 e 252)
• A autoavaliação é fundamental para o desenvolvimento de um Projeto, pois permite ao estudante identificar pontos fortes e áreas que necessitam de

melhorias ao longo do processo. Ao refletir sobre suas ações e decisões, é possível ajustar estratégias, corrigir desvios e otimizar o tempo, garantindo que o produto seja entregue da melhor forma. Além disso, a autoavaliação dos integrantes do grupo para ponderar as atuações de cada um promove o autoconhecimento e o desenvolvimento contínuo, contribuindo para um desempenho mais consciente e alinhado com as metas estabelecidas. Por isso, recomenda-se incentivar os estudantes a realizar as avaliações tanto individuais quanto coletivas e discutir os resultados.
As autoavaliações são também momentos de verificação de aprendizagens e de autonomia e onde se consegue reconhecer as ações e os comportamentos necessários para alcançar um aprimoramento de habilidades. Procure apoiar todos nesse reconhecimento e, de forma individualizada, ajude-os a criar estratégias para que haja uma participação equilibrada e harmoniosa nos grupos.
No caso da avaliação individual ( Minha atuação) e da avaliação de estudos (Descobertas e conhecimentos ), o estudante deve se avaliar de forma autorreflexiva com o intuito de aprimorar sua entrega e dedicação no trabalho para alcançar os objetivos do Projeto com maior eficácia.
Vivenciar
(página 252)
É impor tante acompanhar de perto os grupos no desenvolvimento do trabalho na agência de checagem, observando como os estudantes colaboram entre si na verificação de informações e na elaboração de conteúdos sobre fake news . Se for possível, oriente-os a investigar o impacto dessas práticas na comunidade escolar, incentivando reflexões sobre como o trabalho de checagem contribui para a conscientização e para o desenvolvimento do pensamento crítico entre os colegas. Esse acompanhamento garante a produtividade e ajuda os estudantes a reconhecer a importância de combater a desinformação em seu cotidiano.
• A lgumas ideias possíveis para a vivência do Projeto são: 1. Envolvimento de especialistas
externos : convidando jornalistas, profissionais de comunicação ou especialistas em checagem de fatos para palestras ou bate-papos com os estudantes. Essa interação pode trazer uma visão mais prática do processo de verificação de informações e da importância de combater fake news; 2. Simulação de impactos da desinformação : com a organização atividades que simulem os efeitos da disseminação de notícias falsas, mostrando aos alunos como elas podem influenciar opiniões, comportamentos e decisões. Isso pode incluir a análise de casos reais de desinformação que tiveram repercussões sociais ou políticas; 3. Criação de um “Guia do Fato ou Fake ” : incentivando os estudantes a criar um guia de como verificar informações, identificando etapas que vão desde a análise da fonte até a verificação de fatos e evidências. Esse material pode ser distribuído para os colegas e a comunidade escolar; 4. Debates sobre ética e responsabilidade digital : promovendo rodas de discussão ou debates sobre a ética na produção e no compartilhamento de informações. Isso ajuda a desenvolver a conscientização sobre o papel de cada um no combate à desinformação e no uso responsável das redes sociais; 5. Parceria com outras turmas ou instituições : sugerindo a criação de parcerias com outras turmas ou até com agências de checagem externas para ampliar o alcance do projeto. Os estudantes podem compartilhar suas verificações e, ao mesmo tempo, aprender com outras iniciativas de combate à desinformação; 6. Criação de um logotipo e identidade visual da agência : propondo aos alunos a criação de uma identidade visual própria para a agência de checagem, com logotipo, cores e estilo que representem o grupo. Isso pode contribuir para o engajamento e a valorização do projeto; 7. Premiação para conteúdos mais criativos : estabelecendo concursos internos ou premiações simbólicas para os conteúdos mais criativos e bem verificados, motivando os alunos a se engajarem mais profundamente no processo.
• O acompanhamento do processo é fundamental para garantir que o trabalho em grupo seja produtivo e os estudantes reconheçam a importância do combate à desinformação em suas vidas cotidianas e no ambiente escolar.
Ciência na mídia: novos desafios
[Música de transição]
Você já parou para pensar em como a ciência está presente no seu cotidiano?

O conhecimento científico pode ter um papel importante em diversas situações do nosso dia a dia: desde as atividades mais simples, como comer, beber água e dormir, até aquelas que envolvem tecnologias mais avançadas, como pegar um avião ou usar um GPS.
Esses conhecimentos não apenas trazem benefícios para as pessoas, mas também nos ajudam a compreender os fenômenos que afetam as diferentes formas de vida em nosso planeta. Graças às pesquisas científicas na área da saúde, por exemplo, hoje podemos ter acesso a informações, diagnósticos e tratamentos que possibilitam a cura de doenças e a melhoria da qualidade de vida, tanto individual quanto coletiva.
No entanto, durante muito tempo, a ciência era vista como algo distante, um universo restrito a laboratórios e cientistas.
[Música de transição]
Uma das razões disso é que os resultados das pesquisas sempre foram divulgados em publicações especializadas, com uma linguagem pouco acessível a pessoas leigas.
Diversas iniciativas ao longo da história buscaram promover a popularização da ciência. Exposições, museus, entrevistas com especialistas e a divulgação de pesquisas em jornais, revistas e outros meios de comunicação oram, aos poucos, abrindo caminho para ampliar a divulgação científica na sociedade.
O jornalismo desempenha um papel fundamental nesse processo. Com uma linguagem objetiva, clara e menos técnica, os conhecimentos científicos são transmitidos ao público geral de maneira mais atrativa e compreensível. As mídias digitais, como vídeos, podcasts e as redes sociais, ampliaram ainda mais as possibilidades de divulgação da ciência, permitindo o compartilhamento de informações com maior velocidade.
[Música de transição]
Um levantamento realizado em 2022 pelo Centro de Estudos Sociedade, Universidade e Ciência, da Unifesp, revelou um aumento significativo do interesse da população brasileira por assuntos relacionados à ciência e apontou que esse crescimento foi impulsionado pela vi-
sibilidade que as pesquisas científicas ganharam durante a pandemia de covid-19.
Como a solução para a crise sanitária dependia diretamente da ciência, cientistas de todo o mundo passaram a estudar o vírus, e cada descoberta era noticiada com destaque nos diversos veículos de comunicação.
Desde o início, as evidências sobre a transmissão do vírus levaram os cientistas a recomendar medidas de prevenção, como o uso de máscaras e o isolamento social. O problema é que nem todas as informações que circulavam se baseavam nessas evidências e nas recomendações científicas. Ou seja, se por um lado o conhecimento científico foi muito valorizado, por outro, o período da pandemia também foi palco do fenômeno da desinformação massiva.
A circulação de fake news e o negacionismo científico, que já eram problemas graves no Brasil e no mundo, se intensificaram, aumentando o compartilhamento de notícias enganosas e teses fundamentadas em pseudociências.
Quando as primeiras vacinas foram descobertas, muitas mentiras sobre elas começaram a circular. Dizia-se que as vacinas causavam doenças, traziam efeitos colaterais falsos e não haviam sido testadas. Com isso, muitas pessoas não se vacinaram, correndo o risco de ficar doentes e prejudicando o controle da pandemia.
[Música de transição]
Outro assunto que também tem sido alvo dessa onda de desinformação são as mudanças climáticas. Segundo um estudo publicado em janeiro de 2024 pela organização britânica Center for Countering Digital Hate, o discurso dos negacionistas climáticos tem se renovado nos meios digitais. Antes, eles se restringiam a fazer apenas afirmações contrárias às mudanças climáticas; agora, segundo os dados da pesquisa, os negacionistas buscam construir discursos tendenciosos e apelativos que desvalorizam o trabalho científico.
Foi o que ocorreu durante as enchentes no Rio Grande do Sul, em maio de 2024. Além da disseminação de conteúdos que negavam a relação dessa catástrofe ambiental com os efeitos das mudanças climáticas, a circulação de notícias falsas prejudicou as ações de resgate e a distribuição de recursos às pessoas atingidas.
[Música de transição]
Se antes uma das dificuldades para transmitir conhecimentos científicos era criar canais de divulgação com linguagem acessível ao público, atualmente, o acesso a esses conhecimentos enfrenta novos desafios, maiores e mais complexos.
Com tanta informação circulando nos meios de comunicação, um número maior de pessoas pode acompanhar inovações e descobertas. Porém, o compartilhamento de notícias enganosas gera desconfiança em relação à validade dos conhecimentos científicos.
Uma observação importante a se fazer é que a dúvida é um dos princípios que impulsionam o desenvolvimento da ciência. Novas descobertas e questionamentos podem confirmar ou colocar em xeque estudos anteriores, mas esse processo se baseia em instrumentos de avaliação reconhecidos pela comunidade científica. Ou seja, antes que a conclusão de um estudo seja divulgada, ele passa por diversas etapas, nas quais se verificam as hipóteses, as evidências e a pertinência da metodologia utilizada.
O discurso negacionista se aproveita do fato de que muitas pessoas desconhecem esse processo para provocar desconfiança em relação a conhecimentos consolidados com base em evidências concretas. Essa desconfiança é totalmente diferente da dúvida que move o desenvolvimento científico e se aproxima do fenômeno conhecido como pós-verdade.

[Música de transição]
A pós-verdade, de modo geral, refere-se ao processo de formação da opinião pública em que os fatos objetivos têm menos influência do que o apelo às emoções e às crenças pessoais.
Esse fenômeno está diretamente ligado à era digital e ao modo de funcionamento das redes sociais, que utilizam filtros e algoritmos para direcionar as interações dos usuários. Esse direcionamento favorece a formação das chamadas “bolhas”, selecionando conteúdos de acordo com o perfil de cada usuário e limitando o acesso a informações que confirmam suas convicções.
[Música de transição]
Por isso, hoje em dia, não basta estarmos informados; é muito importante também adotar estratégias contra a desinformação, por exemplo: buscar informações variadas sobre os assuntos e consultar diferentes fontes, verificando se são confiáveis.
No caso de estudos científicos, é necessário pesquisar sobre o cientista e seu campo de atuação para verificar se o tema discutido está relacionado à sua formação.
Em geral, o discurso negacionista utiliza um tom alarmista para desviar a atenção de aspectos importantes que precisam ser considerados, além de apresentar informações descontextualizadas. Por isso, também é fundamental observar se dados e evidências foram omitidos, analisando os argumentos e a intenção por trás da maneira como são apresentados.
Ah, e não se esqueça: antes de compartilhar uma informação, é importante verificar se ela realmente é confiável. Além dessas estratégias, você pode consultar agências de checagem de notícias, que são ótimas ferramentas para isso.
Assim, você não espalha fake news e combate a desinformação!
[Música de transição]
Todos os áudios contidos neste conteúdo são da Freesound.
[Música de transição: instrumental samba]
A língua portuguesa é falada por mais de 260 milhões de pessoas em todo o mundo. Além do Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste têm o português como língua oficial. Todos esses países foram colonizados por Portugal e, nesse processo, a língua certamente foi um dos principais instrumentos de dominação.
No Brasil, esse domínio se impôs sobre os povos indígenas que já viviam aqui e sobre milhares de africanos que foram escravizados.
No período colonial, o português conviveu com as línguas africanas e indígenas dos diversos povos que habitavam este território. Em 1757, como forma de impor seu domínio, a Coroa portuguesa proibiu o uso de outras línguas e instituiu o português como língua oficial da colônia. Apesar de essa imposição ter sido uma estratégia de dominação, a maneira como o português foi transformado pelos falantes mostra que a língua também é um impor tante instrumento de resistência cultural.
É sobre as características dessa língua, conhecida como português brasileiro, que vamos conversar agora.
[Música de transição: instrumental samba]
Antes da chegada dos portugueses, havia cerca de mil línguas indígenas diferentes no território brasileiro. Depois de séculos de ataques contra os povos indígenas, muitas dessas línguas deixaram de existir. No entanto, é importante lembrar que, atualmente, os diversos povos indígenas do Brasil falam mais de 160 línguas e dialetos.
[Música de transição: instrumental maracá]
Muitos brasileiros desconhecem a variedade de línguas indígenas faladas em nosso território, mas, com certeza, já tiveram contato com palavras ou expressões de origem indígena. Nomes de estados, como Amapá, Goiás, Paraíba, Paraná, Piauí e Sergipe, por exemplo, têm origem em línguas indígenas.
Pesquise a origem de nomes de plantas, animais e lugares em sua região e você irá se surpreender com a quantidade de palavras indígenas presentes em nossa língua.
[Música de transição: instrumental samba]
A influência das línguas africanas no português brasileiro também é bastante significativa.
Os africanos escravizados trazidos para o Brasil vinham de duas regiões diferentes do continente: a região banto, que tem cerca de 300 línguas, entre elas o quimbundo; e a sudanesa, de onde provém, por exemplo, o iorubá. Mas, se hoje a maioria dos afrodescendentes fala português, o que aconteceu com essas línguas? Será que elas simplesmente deixaram de existir?
O Brasil é o país com o maior número de descendentes de africanos fora da África. E, como não poderia deixar de ser, a influência das línguas africanas está muito presente nas diversas manifestações culturais afro-brasileiras.

Além disso, muitas palavras do português brasileiro têm origem africana, como fubá, dengo, cafuné, caçula, moleque, cochilo...
[Trecho de áudio extraído de entrevista]
[Lélia Gonzalez] “Eu defendo a tese [que], no Brasil, nós não falamos português, nós falamos pretuguês, tá? Nós, negros, brancos, não sei o quê, por causa exatamente... Porque essa... esta musicalidade, esta rítmica que o português falado no Brasil tem, e o português de Portugal não tem, foi trazido pela... pelos falares africanos e fundamentalmente pelo quimbundo, né, que é a língua falada em Angola...”
O trecho que você ouviu é de uma entrevista com a intelectual mineira Lélia Gonzalez. Lélia foi professora, filósofa e ativista do movimento negro. Além de denunciar e combater o racismo, ela lutou pelo reconhecimento da contribuição dos povos africanos para a cultura brasileira. Uma das contribuições que ela ressalta é justamente a influência das línguas africanas no português falado no Brasil.
Para ela, essa influência vai além da incorporação de novas palavras e se manifesta em outros aspectos da língua, como o ritmo e a sonoridade, que trazem marcas dos falares africanos. Por exemplo, no Brasil, nós valorizamos a pronúncia das vogais, que quase não aparecem no por tuguês de Portugal. Essa pronúncia marcada das vogais, que confere uma musicalidade ao nosso modo de falar o português, é muito comum nas línguas bantas, como o quimbundo. Por isso, Lélia defende que no Brasil nós falamos “pretuguês”.
Outro exemplo: também no quimbundo, a marcação de plural vem antes e não depois das palavras, diferente do que ocorre no português, que usa o “s” final para indicar plural. Como os falantes de quimbundo não mudavam o fim das palavras para marcar o plural, é possível pensar que eles mantiveram essa característica ao falar português.
Alguns estudiosos acreditam que é por isso que, hoje, muitas pessoas, quando falam de maneira informal, também omitem o “s” no final dos plurais. Dizer “os menino”, “as coisa”, “as pessoa” costuma ser considerado um erro de português, e, muitas vezes, quem fala assim sofre pre -
conceito linguístico. No entanto, estudos como o de Lélia Gonzalez mostram que esse preconceito se deve ao apagamento da influência das línguas africanas e indígenas na formação do português brasileiro.
[Música de transição: instrumental samba]
A língua é inseparável da vivência cultural dos falantes. Quando usamos a língua, estamos utilizando um código que já existe e, ao mesmo tempo, contribuindo para sua renovação. A todo momento, incorporamos novas palavras à língua, que refletem realidades e modos de vida muito diversos. Por isso, dizemos que a língua é viva e dinâmica.
Então, se a língua que falamos se formou também a partir da vivência dos povos africanos e indígenas, podemos considerar que ela foi modificada, deixando de ser exclusivamente portuguesa, para se tornar também negra e indígena.
[Música de transição: instrumental samba]
Créditos:
O trecho da música “Cangoma me chamou”, de Clementina de Jesus, está no álbum Clementina de Jesus, de 1966. O trecho da entrevista “Perfil do Pensamento Brasileiro: Lélia Gonzalez”, de 1988, está no canal Núcleo de Memória Audiovisual da Uerj, no YouTube. Os outros áudios inseridos neste podcast são da freesound.
Sobrevivendo no inferno: um clássico do rap brasileiro
[Trecho de música cantada: rap] “Parece que alguém está me carregando perto do chão
Parece um sonho, parece uma ilusão
A agonia, o desespero toma conta de mim
Algo no ar me diz que é muito ruim”
No início da década de 1990, uma série de episódios de violência policial abalou o Brasil. O massacre do Carandiru, em São Paulo, e as chacinas da Candelária e de Vigário Geral, no Rio de Janeiro, provocaram a morte de dezenas de pessoas, em sua maioria, homens pobres e negros, incluindo adolescentes e jovens.
A brutalidade desses episódios marcou a trajetória de quatro jovens da periferia da cidade de São Paulo. Mano Brown, Edi Rock, KL Jay e Ice Blue, do grupo Racionais MC’s, já eram nomes importantes do rap paulista. Em 1997, como uma resposta à crescente violência contra a juventude periférica, eles lançaram o álbum Sobrevivendo no inferno.
Esse disco foi considerado o mais importante do rap brasileiro e ficou na 14a posição da lista dos 100 me -
lhores álbuns da música brasileira, eleitos pela revista Rolling Stone, que é uma publicação internacional especializada em música. Com esse álbum, os Racionais MC ’s ganharam projeção nacional, se destacando ao lado de grandes nomes da música.
No ano de 2018, Sobrevivendo no inferno ganhou uma versão em livro, publicado pela Companhia das Letras, e, a partir de 2020, foi incluído na lista de obras de leitura obrigatória para o vestibular da Universidade de Campinas – a Unicamp –, no interior de São Paulo. Foi um reconhecimento da importância dos Racionais MC’s e do próprio rap como expressão artística de resistência da cultura negra e periférica.

[Trecho de fala com música instrumental: rap]
“60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial
A cada quatro pessoas mortas pela polícia, três são negras
Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros
A cada quatro horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo
Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente”
O trecho que você ouviu abre a música “Capítulo 4, versículo 3”, a terceira faixa de Sobrevivendo no inferno. Esse trecho traz dados que mostram o drama vivido por jovens negros nas periferias brasileiras na década de 1990. Mais de 30 anos depois, essa realidade ainda se mostra bem atual.
Para se ter uma ideia, segundo o Atlas da violência, em 2022, 76,5% dos homicídios no Brasil foram praticados contra pessoas negras, o que corresponde à soma de pretos e pardos. Segundo o mesmo estudo, a violência tira a vida de quatro pessoas negras a cada hora no Brasil.
Ao mostrar como a violência é praticada contra a população negra, os Racionais MC’s chamam a atenção para o racismo estrutural no Brasil.
Compreender o racismo como estrutural é reconhecer que a discriminação racial não ocorre apenas em casos isolados, não se trata de um comportamento individual. O racismo está entranhado no Estado, nas instituições, no mercado de trabalho, nas políticas públicas, nas relações sociais. É uma estrutura social que desfavorece sistematicamente pessoas negras, que, muitas vezes, não têm acesso a direitos básicos, como moradia digna, saúde e educação de qualidade, e que sofrem diferentes formas de violência.
[Trecho de música instrumental: rap]
Para Acauam Oliveira, autor do prefácio do livro Sobrevivendo no inferno, esse álbum dos Racionais MC’s mostra que a violência policial não é direcionada apenas contra os supostos “criminosos”, e sim contra toda a população negra e periférica. De forma preconceituosa,
essas pessoas são consideradas responsáveis pela violência, quando, na verdade, são as que mais sofrem violência, com a desigualdade e a exclusão social.
A denúncia feita pelos Racionais MC’s também dialoga com o conceito de “necropolítica”, do filósofo e historiador camaronês Achille Mbembe. Ele chama de necropolítica uma forma de soberania em que o Estado e as instituições detêm o poder de definir quem pode viver e quem deve morrer. É contra essa política de morte que os Racionais se voltam quando denunciam os assassinatos de jovens negros pelas mãos de agentes do Estado nos anos de 1990.
É importante dizer também que, de lá pra cá, algumas mudanças aconteceram. Hoje em dia, a população negra e periférica vem conquistando espaços de relevância na sociedade e ganhando visibilidade para além das estatísticas da pobreza e da violência.
Recentemente, em resposta às lutas do movimento negro, as políticas de cotas raciais conseguiram mudar o perfil das universidades brasileiras. Se, em 1997, os Racionais MC’s cantavam que apenas 2% dos universitários eram negros, depois das cotas, esse número subiu bastante: por exemplo, em 2022, 45,2% das vagas nas universidades federais eram ocupadas por pessoas pretas e pardas, segundo dados divulgados pelo Inep. [ Trecho de música instrumental: rap]
Agora vamos falar mais um pouco sobre o álbum. Quando os Racionais MC’s se juntaram em 1988, eles renovaram o rap nacional com uma musicalidade que misturava a batida da black music estadunidense com referências do samba e da música popular brasileira, como Jorge Ben Jor e Tim Maia. Mas Sobrevivendo no inferno potencializou o diálogo com o público ao trazer nas letras diferentes vozes e pontos de vista da periferia. Vozes que sempre foram marginalizadas e que agora aparecem narrando suas próprias histórias. Além disso, os personagens representados nas canções são complexos e dialogam com a experiência de diversos sujeitos periféricos.
Dessa forma, o álbum não só retrata a violência sofrida pelos jovens negros e pobres, mas também contribui para a formação crítica desses jovens, para que eles possam compreender e enfrentar a própria realidade.
[ Trecho de música cantada: rap]
“Eu sou apenas um rapaz latino-americano
Apoiado por mais de cinquenta mil manos
Efeito colateral que o seu sistema fez
Racionais, capítulo 4, versículo 3”
Créditos:
As músicas “Rapaz comum” e “Capítulo 4, versículo 3”, dos Racionais MC’s, estão no álbum Sobrevivendo no inferno, lançado em 1997.
• ANTUNES, Irandé. Aula de português: encontro & interação. São Paulo: Parábola, 2003. (Série Aula, 1).
Na obra, a autora apresenta novos olhares para o ensino da gramática, da linguagem oral e da escrita, partindo de uma análise sobre a ineficiência de alguns métodos tradicionais desse ensino.

BAGNO, Marcos. Gramática pedagógica do português brasileiro. São Paulo: Parábola, 2012. (Referenda, 1).
Em sua gramática, o linguista Marcos Bagno discute os usos da língua e refuta o ensino de uma gramática canônica e purista, para dar lugar ao estudo de fenômenos linguísticos tal como ocorrem de fato no cotidiano, considerando aspectos da variação da língua portuguesa.
BAKHTIN, Mikhail. Os gêneros do discurso. In: BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. Tradução: Paulo Bezerra. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 261-306.
No capítulo “Os gêneros do discurso”, o russo Mikhail Bakhtin aborda a episteme do conceito de gênero discursivo, que subsidiou as muitas outras investigações sobre a temática.
BARTHES, Roland. Aula. Tradução: Leyla Perrone-Moisés. São Paulo: Cultrix, 1978.
Na transcrição da sua aula inaugural para a cadeira de Semiologia Literária no Collège de France, em 1977, o francês Roland Barthes discorre sobre a relação de poder que existe no próprio sistema linguístico, apontando a literatura como um espaço em que a língua pode ser ouvida fora do lugar de poder e de reinvenção.
• BENJAMIN, Walter. O narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. In: BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. Tradução: Sergio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1994. p. 197-221. (Obras escolhidas, 1).
O ensaio aborda, de forma reflexiva e crítica, a dificuldade de intercambiar experiências e o fim da figura do narrador oral a partir do surgimento do romance enquanto produção literária da individualidade.
• BOSI, Alfredo. Céu, inferno: ensaios de crítica literária e ideológica. 2. ed. São Paulo: Duas Cidades: Editora 34, 2010. (Coleção Espírito Crítico).
O livro apresenta ensaios a respeito de grandes autores da literatura, como Guimarães Rosa, Carlos Drummond de Andrade e Cecília Meireles.
• BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. São Paulo: Cultrix, 2003.
O livro discorre sobre a história da literatura brasileira por meio da discussão histórica e da apresentação dos principais autores de cada movimento literário.
• BRONCKART, Jean-Paul. Atividade de linguagem, textos e discursos: por um interacionismo sociodiscursivo. Tradução: Anna Rachel Machado e Péricles Cunha. 2. ed. São Paulo: EDUC, 1999. Nessa obra, o quadro sociointeracionista proposto por Jean-Paul Bronckart leva a analisar as condutas humanas como ações significantes, cujas propriedades estruturais e funcionais são, antes de tudo, produto da socialização. A partir da análise de 120 exemplos de textos, o autor analisa os caminhos para um interacionismo sociodiscursivo.
• BUCK INSTITUTE FOR EDUCATION. Aprendizagem baseada em projetos: guia para professores de Ensino Fundamental e Médio. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008.
A obra detalha o trabalho com projetos desde o planejamento e a elaboração da pergunta de pesquisa, perpassando pelo desenvolvimento das etapas e pontos de checagem, até o processo avaliativo por meio de rubricas. Está inteiramente voltado a professores do Ensino Fundamental e Médio.
• CANDIDO, Antonio. O direito à literatura. In: CANDIDO, Antonio. Vários escritos. 4. ed. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul; São Paulo: Duas Cidades, 2004. p. 169-191.
O texto defende que a literatura deve ser compreendida como um direito humano, pois a fabulação e o imaginário têm caráter formativo para os sujeitos.
• CANDIDO, Antonio. O estudo analítico do poema. 3. ed. São Paulo: Humanitas, 1996.
Na obra, o crítico desenvolve argumentações teóricas acerca dos elementos de um poema: sonoridade, rima, ritmo, metro e verso.
• CANDIDO, Antonio. Formação da literatura brasileira: momentos decisivos. 6. ed. Belo Horizonte: Itatiaia, 2000.
O livro apresenta o Arcadismo e o Romantismo como principais épocas da formação da literatura brasileira por meio de análises de cunho literário e sociológico.
• CANDIDO, Antonio. Literatura e sociedade. São Paulo: Nacional, 1976.
A obra apresenta estudos críticos de teoria e história literária.

CANDIDO, Antonio. Na sala de aula: caderno de análise literária. São Paulo: Ática, 1989.
O volume apresenta análises de seis poemas brasileiros que subsidiam o trabalho com o gênero em sala de aula.
COHEN, Elizabeth G.; LOTAN, Rachel A. Planejando o trabalho em grupo: estratégias para salas de aula heterogêneas. Tradução: Luís Fernando Marques Dorvillé, Mila Molina Carneiro e Paula Márcia Schmaltz Ferreira Rozin. 3. ed. Porto Alegre: Penso, 2017. E-book.
A obra apresenta diversas estratégias para a organização de trabalhos em grupo, sobretudo na sala de aula, e os modos de desenvolver as habilidades dos estudantes referentes a essa prática.
COMPAGNON, Antoine. O demônio da teoria: literatura e senso comum. Tradução: Cleonice Paes Barreto Mourão, Consuelo Fortes Santiago. 2. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2012.
O autor explora as diferentes correntes críticas e teóricas da literatura, inserindo-as em perspectiva e demonstrando o modo como a história da literatura pode ser pensada com base em diversos pontos de vista.
COSTA, Sérgio Roberto. Dicionário de gêneros textuais. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2014.
Nos verbetes desse livro, o autor apresenta uma breve explicação sobre o que são diversos gêneros textuais, abarcando também gêneros híbridos e multimodais.
• CUNHA, Celso; CINTRA, Luís Filipe Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 5. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 2009. Essa gramática tem como abordagem a explicação dos fenômenos linguísticos sob a perspectiva da norma-padrão, considerando alguns aspectos decorrentes do uso da língua, que, ao longo do tempo, modificam as regras.
• DISCINI, Norma. Comunicação nos textos: leitura, produção, exercícios. São Paulo: Contexto, 2005.
Com base na análise de textos diversos, a obra se propõe a decodificar cada texto lido localizando as mensagens explícitas e implícitas e descrevendo mecanismos de construção de sentido nos textos. Com essa atividade de análise, promove a construção do texto próprio.
• FILATRO, Andrea; CAVALCANTI, Carolina Costa. Metodologias inov-ativas: na educação presencial, a distância e corporativa. São Paulo: Saraiva, 2018.
O livro aborda diversos tipos de metodologias ativas que podem ser aplicadas em sala de aula e na elaboração de atividades didáticas. As propostas partem de pesquisa, organização, análises e síntese por parte do estudante, o que se configura como pensamento computacional.
• FIORIN, José Luiz. Argumentação. São Paulo: Contexto, 2015.
Nessa obra, o linguista, professor e pesquisador José Luiz Fiorin apresenta os processos de construção da argumentação: a organização do argumento, os tipos de argumentação e alguns problemas gerais voltados para essa atividade presente em diversas práticas sociais.
• ISER, Wolfgang. O ato da leitura: uma teoria do efeito estético. Tradução: Johannes Kretschmer. São Paulo: Editora 34, 1996. v. 1.
O autor se propõe a pensar o modo como o leitor e o texto literário interagem para a formação do significado da obra literária e de seu efeito estético.
• JUBRAN, Clélia Spinardi (org.). A construção do texto falado. São Paulo: Contexto, 2019. (Gramática do português culto falado no Brasil, 1).
A coletânea de textos que compõem a obra é elaborada por diversos autores e esclarece conceitos voltados à construção do texto falado. São destacados os processos comuns a esse tipo de texto – como repetição, correção, parafraseamento, parentetização, tematização, rematização e referenciação – e os marcadores discursivos.
• KOCH, Ingedore Villaça. Desvendando os segredos do texto. São Paulo: Cortez, 2002.
Na obra, a autora explora um conteúdo que tem sido foco de atenção dos pesquisadores na área de Linguística Textual: as questões relativas à construção
textual dos sentidos, tanto em exercícios de compreensão do texto quanto de produção.
• KOCH, Ingedore Villaça; BENTES, Anna Christina; CAVALCANTE, Mônica Magalhães. intertextualidade: diálogos possíveis. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2012.

Na obra, o conceito de intertextualidade é explorado em seu senso estrito e amplo com base nos estudos da Linguística Textual. Para isso, é abordada a intersecção da intertextualidade com a polifonia, a metatextualidade e a hipertextualidade.
KOCH, Ingedore Villaça. Introdução à linguística textual: trajetória e grandes temas. São Paulo: Contexto, 2015.
Linguista conhecida por sua trajetória de estudos na área de Linguística Textual, Ingedore Koch aborda, nesta obra, as premissas dos estudos de linguística textual, definindo seu surgimento, seus principais objetos de estudo, as formas de articulação textual, as estratégias textual-discursivas de construção de sentido, as marcas de articulação na progressão textual, a intertextualidade e os gêneros do discurso.
MAINGUENEAU, Dominique. O contexto da obra literária: enunciação, escritor, sociedade. Tradução: Marina Appenzeller. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
O livro discorre a respeito dos funcionamentos discursivos do texto literário, tendo como ponto de partida a teoria linguística.
MARCUSCHI, Luiz Antônio. Oralidade e escrita. Signótica, Goiânia, v. 9, n. 1, p. 119-145, 1997. Disponível em: https://revistas.ufg.br/sig/article/ view/7396. Acesso em: 1 out. 2024.
Nesse ensaio, o autor, conhecido por seus estudos na área de Linguística Textual, comenta a importância de considerar a prática discursiva como uma prática social. Com base nesse pensamento, confirma a impossibilidade de se realizarem análises entre língua oral e escrita utilizando como base apenas o código linguístico.
• MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola, 2008.
Uma das obras mais conhecidas de Marcuschi, o livro apresenta estudos divididos em três grandes temas: produção textual com ênfase na linguística de texto de base cognitiva; análise sociointerativa de gêneros
textuais no contínuo fala-escrita; processos de compreensão textual e produção de sentido. No volume, as noções de língua, texto, gênero textual, compreensão e sentido são exploradas em profundidade.
• MOISÉS, Massaud. A literatura portuguesa São Paulo: Cultrix, 1995.
A obra focaliza os principais movimentos literários portugueses, apresentando suas características gerais e ampla bibliografia a respeito de cada um deles.
• NEVES, Maria Helena de Moura. A gramática do português revelada em textos. São Paulo: Editora Unesp, 2018.
A linguista apresenta, nessa gramática, situações de uso da língua em textos de variados gêneros textuais, observando e analisando os fenômenos linguísticos sob a perspectiva de sua ocorrência nos textos.
• NEVES, Maria Helena de Moura. Texto e gramática. São Paulo: Contexto, 2018.
Nessa obra, a autora conceitua o processo de gramaticalização e a relação entre gramática e cognição, além de perpassar por análises sobre referenciação, modalização da linguagem e formação de enunciados complexos.
• PEREIRA, Edimilson de Almeida. Entre Orfe(x)u e Exunouveau: análise de uma estética de base afrodiaspórica na literatura brasileira. São Paulo: Fósforo, 2022.
Na obra, o crítico literário e teórico da literatura repensa a apresentação da história da literatura brasileira com base em um olhar voltado para a diáspora africana e o seu papel na construção literária no Brasil e no mundo.
• POSSENTI, Sírio. Malcomportadas línguas São Paulo: Parábola, 2009. (Linguagem, 36).
Trata-se de uma obra que apresenta pequenas análises de fenômenos linguísticos com intuito de provocar reflexões no leitor a respeito dos limites das regras gramaticais e sobre como a língua de fato se realiza.
• POSSENTI, Sírio. Questões de linguagem: passeio gramatical dirigido. São Paulo: Parábola, 2014. (Educação linguística, 7).
Nesse livro, o linguista apresenta diversos tópicos gramaticais sob a perspectiva da compreensão dos fenômenos linguísticos tal como ocorrem de fato no uso da língua, como um objeto complexo em constante construção.
• ROJO, Roxane; MOURA, Eduardo (org.). Multiletramentos na escola. São Paulo: Parábola, 2012. (Estratégias de ensino, 29).
A pedagogia dos multiletramentos é contextualizada e conceituada pela professora Roxane Rojo nessa obra. Além do conteúdo proposto por ela, diversos autores apresentam análises e práticas de multiletramento possíveis de serem aplicadas em sala de aula.
• SANTOS, Leonor Werneck; RICHE, Rosa Cuba; TEIXEIRA, Cláudia Silva. Análise e produção de textos. São Paulo: Contexto, 2015. (Linguagem & ensino).

Nessa obra, voltada ao ensino da produção textual no Ensino Fundamental, importantes conteúdos acerca da análise e produção de textos são abordados, como: tipologias e gêneros textuais, leitura de textos escritos e orais e atenção para a análise linguística. Ainda que pensada para o ciclo anterior, os tópicos abordados são muito importantes para a análise e a prática textual no Ensino Médio.
SCHNEUWLY, Bernard; DOLZ, Joaquim. Gêneros orais e escritos na escola. Tradução: Roxane Rojo e Glaís Sales Cordeiro. Campinas: Mercado de Letras, 2004.
Nessa obra, são apresentados encaminhamentos ou procedimentos possíveis para o ensino de gêneros textuais na escola, de maneira a auxiliar os docentes no planejamento e na prática de produções textuais orais e escritas.
SILVA, Ivanda Maria Martins. Literatura no ensino médio: conexões com orientações curriculares. Olh@res, Guarulhos, v. 5, n. 2, p. 90-97, nov. 2017. Disponível em: https:// periodicos.unifesp.br/index.php/olhares/ article/view/709. Acesso em: 1 out. 2024. O texto reflete sobre o ensino de literatura e as orientações curriculares a respeito desse ensino, apresentando um olhar crítico sobre as práticas didáticas.
• SOLÉ, Isabel. Estratégias de leitura. Tradução: Cláudia Schilling. 6. ed. Porto Alegre: Penso, 2014.
São apresentadas nessa obra diversas estratégias de trabalho com a leitura em sala de aula, a fim de levar o estudante a desenvolver a compreensão e a interpretação de textos de forma autônoma.
• SOUZA, Renata Junqueira de; COSSON, Rildo. Letramento literário: uma proposta para a sala de aula. In: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA (UNESP); UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (UNIVESP). Caderno de formação: formação de professores: didática dos conteúdos.
São Paulo: Cultura Acadêmica, 2011. p. 101107. (Caderno de Formação, bloco 2, v. 2, n. 10). Disponível em: https://acervodigital.unesp.br/ handle/unesp/381259. Acesso em: 7 out. 2024.
O texto foi escrito para professores que buscam fazer o letramento literário em sala de aula e aborda propostas que procuram estimular e ampliar o acesso à leitura.
• VALENTE, André Crim (org.). Unidade e variação na língua portuguesa: suas representações.
São Paulo: Parábola, 2015. (Linguagem, 68).
Nessa coletânea, renomados linguistas e gramáticos, como Evanildo Bechara, Ataliba de Castilho, Carlos Alberto Faraco, Dante Lucchesi, Marli Quadros Leite e Patrick Charaudeau, apresentam artigos que versam sobre questões gramaticais em uma perspectiva crítica e variacionista.
• VIEIR A, Francisco Eduardo; FARACO, Carlos Alberto. Gramática do português brasileiro escrito. São Paulo: Parábola, 2023. (Referenda, 9).
Nessa obra, os autores propõem um estudo da língua escrita com base no reconhecimento de uma língua brasileira que apresenta muitos anos de pesquisas e estudos sobre os fenômenos linguísticos e sua forma de ocorrência especificamente no Brasil.
• XAKRIABÁ, Nei Leite. Ensinar sem ensinar. In: CARNEVALLI, Felipe et al. (org.). Terra: antologia afro-indígena. São Paulo: Ubu Editora; Belo Horizonte: Piseagrama, 2023. p. 263-276. O texto aborda as práticas de ensino com base em um recorte indígena, refletindo acerca do modo como as escolas se organizam em torno de saberes associados à branquitude.
• ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Tradução: Ernani F. da F. Rosa. Porto
Alegre: Artmed, 1998.
Nessa obra, o autor apresenta reflexões sobre a organização do trabalho docente e propõe teorias e métodos de planejamento, replanejamento e avaliação desse trabalho.