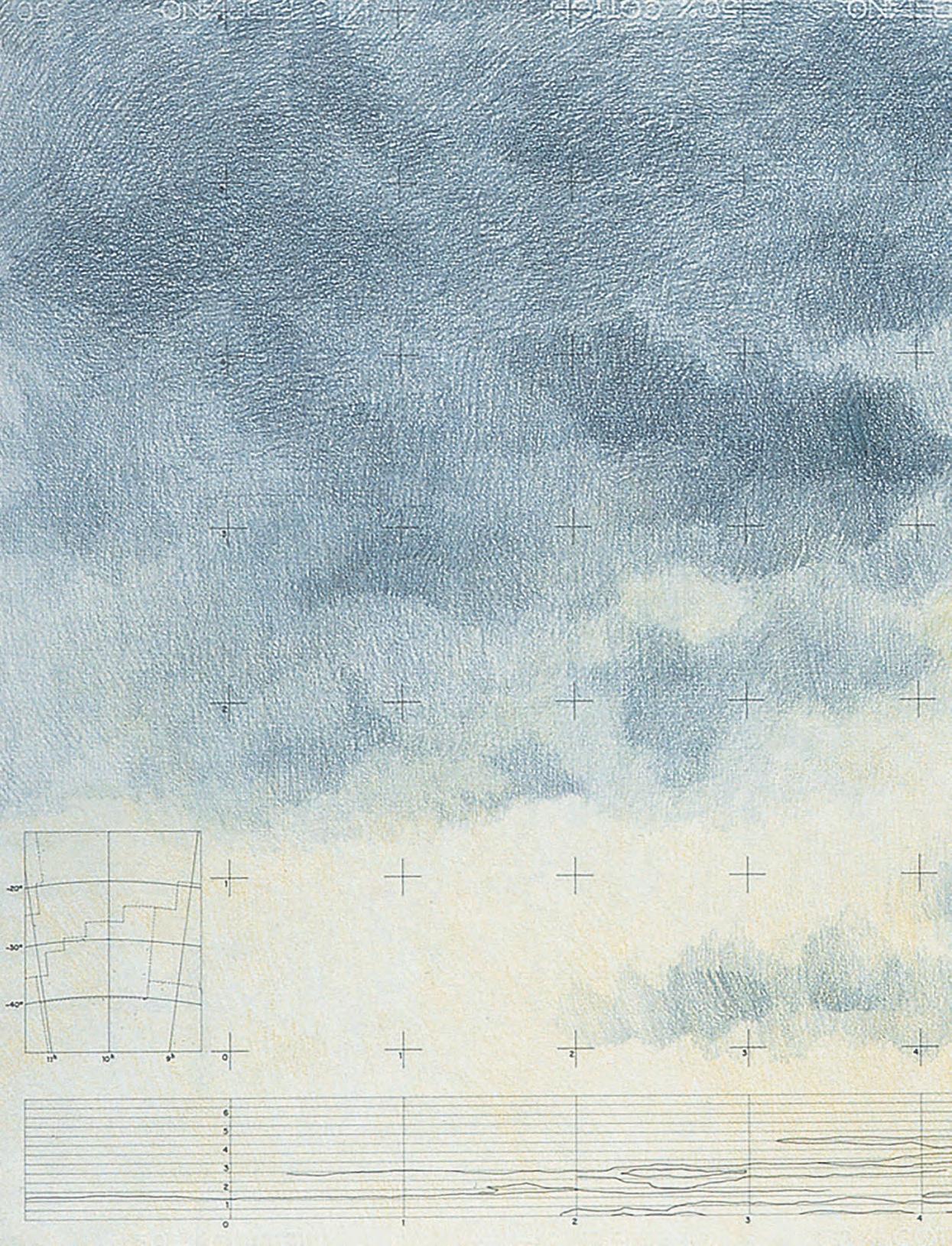ARTE E CULTURA CONTEMPORÂNEA A VIRADA MAR/ABR/MAI 2023 VOL. 12 N. 57 VITÓRIA CRIBB ANNIE ERNAUX PANMELA CASTRO BÉNÉDICTE SAVOY SONDRA PERRY Há M uito Q ue V enho S onhando com Imagens Que Nunca Vi VIII (2022), de Igi Lola Ayedun
30 DE MARÇO A 3 DE SETEMBRO DE 2023
SESC GUARULHOS
Instalação imersiva composta por cenas interativas na fronteira entre videoinstalação, teatro e cinema, com imagens, símbolos e sons cujas forças nascem da cultura negra e indígena na América.

Participações Katú Mirim, Davi Kopenawa Yanomami, Legítima Defesa, Naruna Costa, Marcelino Freire, Jota Mombaça, Naná Vasconcelos, Jonathan Neguebites, Juçara Marçal, Daiara Tukano e Denilson Baniwa.
Visitação
Terças a sextas, das 9h às 21h30 Sábados, das 9h às 20h Domingos e feriados, das 9h às 18h
Agendamentos de visitas mediadas para grupos agendamento.guarulhos@sescsp.org.br
Sesc Guarulhos
Sesc Guarulhos sescsp.org.br/guarulhos
COLUNA MÓVEL A INVENÇÃO DO REAL
Na primeira parte de um ensaio inédito sobre as afinidades eletivas entre Lacan e o grupo surrealista, Christian Dunker disserta sobre a construção do conceito de Real

68
PERFIL
PANMELA CASTRO
Os três ciclos da artista, ativista e empreendedora que, à frente da ONG Rede Nami, fomenta práticas coletivas de formação para mulheres trabalharem com arte
118
ENTREVISTA BÉNÉDICTE SAVOY
Autora do Relatório SarrSavoy, lista de obras de arte saqueadas durante a era colonial, fala com exclusividade com Márcio Seligmann-Silva
136
FOGO CRUZADO PRIVILÉGIO BRANCO
Artistas e agentes debatem as questões raciais no âmbito da arte
104
REPORTAGEM
ARTE EM PRIMEIRA PESSOA
Aline Motta, Vulcanica Pokaropa, Larissa de Souza e Élle de Bernardini apresentam pesquisas artísticas inseridas em um contexto testemunhal
36
PORTFÓLIO TECNOLOGIAS
FABULATIVAS
Igi Lola Ayedun, Sondra Perry e Vitória Cribb propõem experimentações sensíveis de mundos inventados para outras realidades de vidas pretas

80
LITERATURA
ANNIE ERNAUX
O escritor Ricardo Lísias defende que a francesa é a autora que melhor manipula a trajetória do narrador em primeira pessoa na literatura dos séculos 20 e 21
128
COLEÇÕES SEM INGENUIDADE
Obras do precioso acervo do Museu Internacional de Arte Naïf distribuem-se por estações de trem e escolas de cidades históricas mineiras
54 CURADORIA A CONSTRUÇÃO DO CÉU
Curadoria editorial de Leandro
Muniz reúne obras de seis
artistas brasileiros que exploram mecanismos de representação do universo e da esfera celeste
90
TERRITÓRIOS PAISAGEM PERIFÉRICA
A repórter Eloisa Almeida acompanha os caminhos poéticos dos artistas Bruno
Alves e Lucas Almeida pelo bairro paulistano do Grajaú
124
PATRIMÔNIO GUERRA AO CONTRABANDO
Lista Vermelha Brasil, documento elaborado pelo Conselho Internacional dos Museus, chega ao país para ajudar no combate ao tráfico ilegal de bens culturais
Manifesto editorial Da Hora Livros Ficções
Acervos Itaú Cultural Mundo Codificado
#FLORESTAPROTESTA
Crítica Bagagem
6 12 19 21 22 28 144 148 172
+
EXPANDIDA / RÁDIO
O UNIVERSO É O MEU LUGAR
Playlist dá sonoridade à curadoria A Construção do Céu
NÃO SER EU, PARA SER ACEITA (2022), DE LARISSA DE SOUZA FOTO: ADAM REICH/CORTESIA DA ARTISTA E ALBERTZ BENDA
SEÇÕES 24
CELESTE ESTÁ NO AR
Há um ano, decidimos que nossos editoriais seriam manifestos. Imersos na maior campanha ativista em que a revista jamais se engajara, voltada para a defesa da democracia e a retomada da arte e da vida como motores de uma sociedade saudável, intitulamos nossas edições com verbos propositivos de ações e transformamos os editoriais em manifestos.
O ano de 2023 começa com a mudança de governo no Brasil, o quase fim da pandemia, a virada testemunhal na arte, na literatura e na história, o fortalecimento das políticas identitárias, da autorrepresentação. A edição #57 trata dessa VIRADA. Celebramos também a virada de página da própria revista, que adota o nome espelhado seLecT_ceLesTe
celeste essa palavra que traz bons ventos de expansão, inclusão, cooperação, reflexividade, vibração, ressonância, já orbita nossos textos e imaginários há tempos. Em 2021, celeste surgiu como o podcast da revista seLecT e, ao longo das pesquisas para as edições da série Floresta,
passeamos pelos conhecimentos indígenas sobre o céu. A escrita dos céus orienta a Redação da revista desde o princípio, quando o astrofísico Marcelo Gleiser nos brindou com um texto sobre a constelação do Cruzeiro do Sul na segunda edição da seLecT, em 2011. Em fevereiro de 2016, na semana em que a existência do som do universo – contido em ondas gravitacionais – foi comprovada pela ciência, nos pusemos a escutar estrelas e a escrever sobre a instalação da artista Chiara Banfi sobre o som dos minerais e dos cometas
Nesta #57, as artistas Igi Lola Ayedun, Sondra Perry e Vitória Cribb fazem a virada celeste, com suas tecnologias fabulativas para novas realidades pretas. A curadoria editorial de Leandro Muniz expõe trabalhos que dão outras visualidades aos mecanismos de representação do universo. A historiadora Bénédicte Savoy, entrevistada por Márcio Seligmann-Silva, relata a virada patrimonial que devolve obras de arte roubadas durante a era colonial às suas culturas de origem. E a virada testemunhal é aqui protagonizada por Annie Ernaux, em ensaio de Ricardo Lísias; Bruno Alves e Lucas Almeida, em reportagem de Eloisa Almeida; e a “arte em primeira pessoa” de Aline Motta, Vulkanica Pokaropa, Tadáskia e Élle de Bernardini.

E este editorial-manifesto continua a virar a noite, caçando sentidos da palavra celeste em textos, como o olho caça estrelas cadentes.
“Até os confins do sistema solar há quatro horasluz; até a estrela mais próxima, quatro anos-luz. Um desmedido oceano de vazio. Mas estamos realmente seguros de que só exista um vazio? Unicamente sabemos que neste espaço de luz não existem estrelas luminosas; se existissem, seriam visíveis? E se existissem corpos não luminosos ou escuros? Não poderia acontecer que nos mapas celestes, assim como nos mapas terrenos, estejam indicadas as estrelas-cidades e omitidas as estrelas-aldeias? Escritores soviéticos de ficção científica arranhando-se no rosto à meia-noite. – Os infrassóis (Drummond diria os alegres companheiros proletários) (…) – Quem terá atravessado a cidade e por uma única música só terá ouvido os assobios de seus semelhantes, suas próprias palavras de assombro e raiva?”
Do Manifesto Infrarrealista, de Roberto Bolaño, em texto de Ronaldo Bressane na seLecT #43
Afirmar que a Terra gira ao redor do Sol significa, também, negar a separação ontológica entre o espaço terrestre, humano, e o espaço celeste, não humano, e, portanto, transformar a própria ideia de céu. O céu não é mais uma atmosfera acidental que envolve o chão, é a única substância do universo, a natureza de tudo o que existe. O céu não é o que está no alto. O céu está em toda parte: é o espaço e a realidade da mistura e do movimento, o horizonte definitivo a partir do qual tudo deve se desenhar. Só há céu, por toda parte: e tudo, mesmo nosso planeta e o que ele alberga, não passa de uma porção condensada dessa matéria celeste infinita e universal. (...) Afirmar a continuidade material entre a Terra e o resto do universo significa alterar a própria ideia de Terra. A Terra é corpo celeste, e tudo é céu nela. O mundo humano não é a exceção de um universo não humano; nossa existência, nossos gestos, nossa cultura, nossa linguagem, nossas aparências são celestes de ponta a ponta.
Emanuele Coccia, A Vida das Plantas – uma Metafísica da Mistura
Minha vida onírica desenvolveu a potência de um romance de Ursula K. Le Guin. (...) Para os gregos, e para mim em meu sonho, Urano era o teto sólido do mundo, o limite da abóbada celeste. Em inúmeras invocações rituais gregas, Urano é visto como a casa dos deuses ou, para seguir a semântica do sonho, o lugar distante e etéreo onde os deuses tinham seus apartamentos. (...) Das núpcias incestuosas e pouco heterossexuais entre o céu e a terra nasceu a primeira geração de titãs, entre os quais Oceano (a Água), Cronos (o Tempo) e Mnemosine (a Memória).
Paul B. Preciado, Um Apartamento em Urano
Somos habitantes da floresta. Nossos ancestrais habitavam as nascentes dos rios muito antes de meus pais nascerem e muito antes do nascimento dos antepassados dos brancos. (...) Sabemos que eles permanecem ao nosso lado na floresta e continuam mantendo o céu no lugar.
Davi Kopenawa e Bruce Albert, A Queda do Céu – Palavras de um Xamã Yanomami
Se o ar não se movimenta, não tem vento. Se a gente não se movimenta, não tem vida.
Itamar Vieira Júnior, Torto Arado
ceLesTe está no ar.
Paula Alzugaray Diretora de Redação
MANIFESTO EDITORIAL
VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023 6
COLABORADORES
EDITORA RESPONSÁVEL: PAULA ALZUGARAY
DIRETORA DE REDAÇÃO: PAULA ALZUGARAY
REDATORA-CHEFE: JULIANA MONACHESI
DIREÇÃO DE ARTE: NINA LINS
REPORTAGEM: LUANA ROSIELLO E ELOISA ALMEIDA
SECRETÁRIA FINANCEIRA COPY-DESK E REVISÃO CONTATO PUBLICIDADE WWW.SELECT.ART.BR
Carmela Gross, Carollina Lauriano, Christian Ingo Lenz Dunker, Fernanda Morse, José Bento Ferreira, Katia Maciel, Leandro Muniz, Márcio Seligmann-Silva, Mateus Nunes, Ricardo Lísias
Yara Céu Hassan Ayoub
revistaselectceleste@gmail.com
CINEMÁTICA EDITORA CNPJ 35.859.189/0001-57. Travessa Dona Paula 112, CEP 01239-050, SÃO PAULO, SP
SELECT (ISSN 2236-3939) é uma publicação da CINEMÁTICA EDITORA CNPJ 35.859.189/0001-57. Travessa Dona Paula 112, CEP 01239-050, SÃO PAULO, SP
HÉLIO MELO CURADORIA JACOPO CRIVELLI VISCONTI

APOIO CULTURAL:
DE 23 DE MARÇO A 20 DE MAIO DE 2023
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA das 10h às 18h
SÁBADO das 11h às 16h
EXCETO FERIADO
Rua Caconde, 152 – Jd. Paulista São Paulo, SP
EXPEDIENTE 8
VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023
COLABORADORES
CAROLLINA LAURIANO
Curadora independente, com formação pela Central Saint Martins/ University of the Arts London; foi curadora-adjunta da 13 Bienal do Mercosul (2022) e do Ateliê 397.
CRÍTICA 148
LEANDRO MUNIZ
Artista e curador. Formado em artes plásticas pela USP, é assistente curatorial no Masp. Foi repórter na revista seLecT_ceLesTe


CURADORIA 54



KATIA MACIEL
Artista, poeta e professora titular da Escola de Comunicação da UFRJ.

FICÇÕES 21
CHRISTIAN INGO
LENZ DUNKER

Psicanalista e professor titular em Psicanálise e Psicopatologia no Instituto de Psicologia da USP. É autor de Reinvenção da Intimidade - Políticas do Sofrimento Cotidiano (Ubu), e Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma: Uma Psicopatologia do Brasil Entre Muros (Boitempo).
MATEUS NUNES
Doutor em História da Arte pela Universidade de Lisboa, com período na USP, onde é professor convidado. Arquiteto e urbanista pela UFPA, em Belém.
PORTFÓLIO 36


JOSÉ BENTO FERREIRA
Crítico de arte, professor de Filosofia e doutor em Artes pela Universidade de São Paulo.
CRÍTICA 156
FERNANDA MORSE
Escritora, tradutora e pesquisadora. Mestranda no Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da USP.
CRÍTICA 164
RICARDO LÍSIAS
Escritor. Autor de Uma Dor Perfeita (Alfaguara) e A Geração Que Esnobou Seus Velhos (Oficina Raquel).
LITERATURA 80
MÁRCIO SELIGMANN-SILVA




Professor titular de Teoria Literária na Unicamp, doutor em Teoria
Literária e Literatura Comparada pela Freie Universität Berlin (1996), pós-doutor pelo Zentrum Für Literaturforschung Berlim (2002) e por Yale (2006).
ENTREVISTA 118
COLUNA MÓVEL 24
CARMELA GROSS



Artista plástica, tem exposição atualmente em cartaz no Instituto de Arte Contemporânea (IAC); participou da 34 a Bienal de São Paulo. Sua produção artística assinala um olhar incisivo e crítico sobre a cidade contemporânea em sua dimensão política e social.
#FLORESTAPROTESTA 144
10
FORTALEZA NEGROS NA PISCINA
Até 7/5, Pinacoteca do Ceará Rua 24 de Maio, 34 | pinacotecadoceara.org.br/ Com curadoria de Fabiana Morais e Moacir dos Anjos, a exposição constrói uma paisagem social e afetiva na qual corpos pretos, indígenas e travestis também podem ter direito a trabalho e descanso: a piscina. As obras dos mais de 50 artistas debatem temas como insurgências, futuro, beleza, autonomia, dança, festa e, como não poderia deixar de ser, poder e acesso às piscinas – nesse caso, não apenas de forma literal, mas simbólica, entendendo-as como esses espaços de ingresso à educação, saúde, lazer e autonomia, apresentando ao público outros horizontes de Brasil. Entre as obras expostas, fotografia da série Ramos (2015), de Julio Bittencourt, que foi capa da seLecT #29 - Rio.

FOTO: JULIO BITTENCOURT / DIVULGAÇÃO
12
SÃO PAULO CARMÉZIA EMILIANO: A ÁRVORE DA VIDA
De 24/3 a 11/6, Masp Av. Paulista, 1.578 | masp.org.br/ Artista de origem Macuxi, Carmézia Emiliano começa a pintar telas que figuram paisagens, objetos da cultura material e o cotidiano de sua comunidade na década de 1990. A mostra individual no Masp apresenta trabalhos recentes e inéditos da artista, como Aprendendo (2020), com o objetivo de ampliar a compreensão da contribuição de sua obra no cenário artístico nacional. Em paralelo, o museu inaugura a exposição MAHKU: Mirações, celebrando os dez anos do coletivo indígena acriano. Suas pinturas originam-se tanto de traduções e registros de cantos, mitos e histórias de sua ancestralidade como de experiências visuais geradas pelos rituais de nixi pae, denominadas mirações. Na sala de vídeo, o coletivo Bepunu Mebengokré, da Terra Indígena Kayapó, em São Félix do Xingu, no sul do Pará, ocupa as telas com roteiros narrativos, centrando suas ações em cosmologias, nas relações com a floresta e na visibilidade das histórias silenciadas. Em, 2023, o Masp dedica grande parte de sua programação às histórias indígenas.


RIBEIRÃO PRETO FABRICAÇÃO PRÓPRIA

Até 18/6, Sesc Ribeirão Preto Rua Tibiriçá, 50 | sescsp.org.br
Inaugurada no Sesc Pompeia em 2021, a itinerância da exposição da artista Lótus Lobo chega ao interior de São Paulo com obras vinculadas à memória da litografia industrial, gravuras, rótulos e matrizes que se ressignificam dentro da perspectiva da arte contemporânea. A curadoria, assinada pelo artista Marcelo Drummond, reúne a diversa e extensa produção empreendida por Lobo, além de duas obras inéditas.
Explorando o que a pedra lhe pode dar de elementos criativos, como bordas, texturas, volumes e contornos, as obras e imagens criadas pela artista dialogam com as marcas e propagandas midiáticas, em um movimento de apropriação, até ganharem outros significados.
RIO DE JANEIRO TODOS IGUAIS, TODOS DIFERENTES
Até 28/8, Museu de Arte do Rio Praça Mauá, 5 | museudeartedorio.org.br
Abrindo a temporada 2023 da instituição carioca, a mostra debruça-se sobre o fotógrafo francês Pierre Fatumbi Verger e seu trabalho de registro da diversidade cultural afro-brasileira. Com mais de 200 fotografias, apresentadas em diversos formatos e suportes – ampliações recentes e documentos originais –, a curadoria de Alex Baradel convida o público a refletir sobre cultura e tradição no Brasil. A exposição é complementada por depoimentos de diversos artistas, intelectuais e pensadores oriundos dos países fotografados por Verger, como o russo Esteban Volkov e o mexicano Juan Coronel Rivera, respectivamente netos de Leon Trotsky e de Diego Rivera. Um livro-catálogo homônimo reúne a produção fotográfica de Verger, entre 1930 e 1970, em mais de 20 países dos cinco continentes, abordando a diversidade e o respeito, questões que acompanharam Verger durante toda a sua vida.

PUNTA DEL ESTE SURREALISMO LATINOAMERICANO
Galeria Sur Ruta 10, Parada 46, La Barra | galeriasur.uy/exposiciones/surrealismolatinoamericano-2023/
Em torno dos surrealismos na América Latina, do realismo mágico de Gabriel García Márquez, que retrata um mundo real e onírico, das obras de Antonio Berni, com elementos metafísicos, simbólicos ou mentais, intercalando paisagens e ambientes enigmáticos, e dos versos do poeta montevideano Isidore Ducasse, o Conde de Lautréamont, se delineia a mostra panorâmica SURrealismo Latinoamericano, na Galeria Sur. Com curadoria de Martin Castillo, apresenta obras de alguns dos principais artistas do movimento, como Frida Kahlo, Cícero Dias, Ismael Nery, Leonora Carrington, Sergio Lima, Xul Solar, Amalia Polleri e Grete Stern, com a obra Sueño no 38, entre outros.
VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023 16
FOTOS: PIERRE VERGER/CORTESIA MAR DIVULGAÇÃO
FOTOS: EDUARDO ORTEGA / CORTESIA MASP; E DIVULGAÇÃO
SÃO PAULO
QUANTO PIOR, PIOR
Até 23/4, Instituto Tomie Ohtake, Rua Coropés, 88 | institutotomieohtake.org.br/
Pautado por uma poética da repetição, do labor e do fracasso, o artista Fernando Lindote realiza sua segunda individual no Instituto Tomie Ohtake, com 26 pinturas, produzidas entre 2010 e 2023. “Há algo em Lindote que remete à figura mitológica de Sísifo, que todos os dias empurra uma pesada pedra montanha acima, fadado a vê-la rolar em seguida e ter de recomeçar a sua lida”, destacam os curadores Paulo Miyada e Julia Cavazzini, do Núcleo de Pesquisa e Curadoria. Essa dinâmica é sugerida na recorrente exploração da imagem da floresta tropical, em que voracidade, desordem e entropia espelham os impasses de um projeto de país. O surrealismo também está entre os objetos de reflexão do artista, como na obra Maria e Louise (para Paulo e Raul) (2020)



TOKYO SOMETHING LIKE THE SUN
Até 1º/4, Nichido Contemporary Art Gallery 〒106-0032 | nca-g.com/en/index.html
Janaina Tschäpe explora as diversas possibilidades do uso da tinta, buscando estabelecer um sentido de marcação da superfície da tela em uma visualidade mais rítmica – e até jazzística – nas obras que apresenta em exposição individual no Japão, entre elas, Body Island III. O uso dessa gestualidade dinâmica aparece tanto como uma ferramenta para criação de cenários abstratos e paisagens mais densas, como também funciona bem ao provocar os movimentos do olhar e do corpo do espectador diante da pintura.
CURITIBA
MEJTERE: HISTÓRIAS RECONTADAS
A partir de 28/2, Museu Paranaense Rua Kellers, 289 | museuparanaense.pr.gov.br/
A exposição faz parte de um projeto do Museu Paranaense (Mupa) que propõe a curadoria compartilhada com representantes indígenas. A exposição Mejtere: Histórias Recontadas é curada por três bolsistas indígenas, selecionados por edital: Robson Delgado (Baré), Ivanizia Ruiz (Tikuna) e Camila dos Santos (Kaingang). Naine Terena, curadora, artista e educadora, juntamente com a equipe do Mupa, foi quem orientou os três curadores para a realização da mostra, que acontece em cinco núcleos expositivos, compostos de vídeos, fotografias, artefatos e textos, demarcando a linguagem, modos de vida, riqueza étnica e artes dos povos originários, sempre em torno do conceito de Mejtere, palavra da língua Mebengokré-Kayapó que pode ser traduzida como belo, encantador, bom, perfeito. Entre as obras, Cocar (2022), de Juliana Kerexu Mariano do Povo Mbyá-Guarani.
FOTO: SERGIO GUERINI / CORTESIA INSTITUTO TOMIE OHTAKE
FOTOS: BAILEY WILLIAMS/CORTESIA DA ARTISTA; ALEXANDRE MAZZO/ZIRIANI FOTOGRAFIA
NOVA YORK
ANTONIO HENRIQUE AMARAL: O DISCURSO
Até 15/4, Mitchell-Innes & Nash 534 W 26th St | origin.www.miandn.com
Em primeira individual desde que assumiu a representação do espólio do artista, em 2022, a galeria estadunidense apresenta mais de 12 pinturas de Antonio Henrique Amaral (1935-2015), datadas dos anos 1960 aos anos 1990, debatendo a violência política e o descontentamento existencial por meio de uma abordagem visual incisiva contra o autoritarismo. Com foco nos principais temas do artista – bocas, batalhas e bananas –, a mostra será o maior panorama da obra de Amaral vista fora da América do Sul desde 1996, reunindo pinturas como a Terceira Pessoa (1967), O Discurso ou El Tirano (1967) e Selva (1968), da série Banana.

BRUXELAS ORIANA
Até 7/5, Museu Argos, Werfstraat 13, 1.000 | argosarts.org/
Realizada pela primeira vez no Pivô, em 2021, a individual da artista porto-riquenha Beatriz Santiago Muñoz ocupa dois andares do Centro de Artes Audiovisuais Argos, em Bruxelas. Com curadoria de Fernanda Brenner e Niels van Tomme, a mostra combina imagens captadas em Porto Rico com cenas inéditas filmadas na região da Alsácia, na França, que compõem a versão instalativa de Oriana primeiro longametragem da artista. Muñoz filmou cenas extras que foram adicionadas ao material original exibido no Pivô, criando uma nova experiência audiovisual. Oriana é baseado no romance revolucionário da escritora feminista Monique Wittig, As Guerrilheiras (1969), no qual os papéis de gênero heteronormativos são rejeitados por meio do uso de uma gramática recém-criada que desafia os arranjos binários convencionais. A reinterpretação livre e processual do romance de Wittig transpõe suas notáveis invenções linguísticas para uma estrutura fílmica igualmente não convencional.

AS BOLCHEVIQUES

Óscar de Pablo Editora Veneta, 304 págs., R$ 114,90 Revisitando a Revolução de 1917, o livro debruça-se sobre outros protagonismos na luta contra o czarismo, apresentando a história de 20 mulheres, como Inessa Armand, que dirigiu o Conselho Econômico de Moscou, e Alexandra Kolontai, uma das principais oradoras do partido bolchevique, que se tornou a primeira embaixadora mulher do mundo, e que marcaram a guerra civil da Rússia. Entre ilustrações da artista visual Mariana Waechter, o leitor é convidado a olhar para as conquistas feministas que as Bolcheviques atingiram na época, como o direito ao divórcio, a garantia de dois meses de licença maternidade, a descriminalização e gratuidade do aborto e a licença menstrual de alguns dias por mês.
A REPETIÇÃO
Pedro Cesarino Editora Todavia, 142 págs., R$ 64,90
A Repetição é o segundo projeto ficcional do antropólogo e professor Pedro Cesarino, cujo trabalho acadêmico está centrado no xamanismo, na cosmologia e nas tradições orais dos povos amazônicos e ameríndios. O livro é composto de duas novelas, “O Mentiroso” e “A Dívida”, que trazem à tona situações de violência, escravidão e exploração econômica de indígenas, que se repetem em contextos distintos: floresta, cidade, litoral. Com uma escrita informada por fatos reais, estudos e documentos históricos, o livro coloca-se, ainda, como uma reflexão sobre o poder da palavra escrita e oral na defesa da vida e dos territórios. Em 2021, Cesarino participou de debate promovido pela seLecT sobre Como Expor Arte indígena ao lado de Jaider Esbell e Fernanda Pitta.

HUASIPUNGO
RODOLPHO PARIGI (2011–2022)
Org. Kiki Mazzucchelli, Nara Roesler, 256 págs., R$ 120
Jorge Icaza Editora Pinard, R$ 79 Escrito em 1934 pelo equatoriano Jorge Icaza, Huasipungo é considerado um romance modelar do Indigenismo latino-americano. O termo que serve de título à obra é o nome dado à parcela de terra cedida aos indígenas por um latifundiário, em troca do cultivo de toda a propriedade. Fundamental para a manutenção de um sistema socioeconômico rural baseado na exploração do povo indígena quéchua, esse sistema escravagista é mantido incólume até hoje nos interiores e sertões latino-americanos. É abordado, inclusive, em Torto Arado (2019), romance de Itamar Vieira Júnior sobre uma família de trabalhadores rurais no interior da Bahia. A reedição do emblemático Huasipungo está em campanha de financiamento coletivo na plataforma de crowdfunding Catarse, até 13/3. O público é convidado a adquirir o livro em sua fase de elaboração. Você participa e recebe o livro em casa em junho de 2023.

O livro tem como foco mais de uma década de produção do artista, abordando o aspecto queer em sua produção e examinando, inclusive, o papel de Fancy Violence, seu alter ego corporificado em performances, para a conceituação da obra pictórica. Contribuem para o entendimento da obra, ainda, uma conversa entre Parigi e a artista Erika Verzutti, e o texto Latexguernica, de autoria de Diego Mauro, Paulo Miyada e Priscyla Gomes, curadores da retrospectiva homônima do artista no Instituto Tomie Ohtake, em 2022.

DALTON PAULA: O SEQUESTRADOR DE ALMAS

Dalton Paula e Lilia Moritz Schwarcz, Cobogó, 248 págs., R$ 150
O artista Dalton Paula apresenta neste livro produzido a quatro mãos com a antropóloga Lilia Moritz Schwarcz extensas pesquisas – na forma de diários de viagens, fotografias, conversa, colagens – para a elaboração de trabalhos “que celebram e louvam as subjetividades negras”. História, identidade e representação de pessoas negras no Brasil são questões traduzidas e articuladas em sua pintura, desenho, instalação, performance, vídeo e fotografia.
18 19 VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023
FOTOS: DIVULGAÇÃO; E EVERTON BALLARDIN/CORTESIA PIVÔ
CURA PELAS PALAVRAS
Rupi Kaur, Editora Planeta, 320 págs., R$ 69,90

Autora de best sellers e com uma linguagem ágil, Rupi Kaur lança seu novo livro convocando quem o lê a uma reflexão sobre os traumas a partir de sua própria história. Como abertura dos capítulos, detalhes sobre sua vida são apresentados ao longo das páginas de forma poética e arejada, apesar de os relatos envolverem questões como abuso sexual e transtornos psicológicos. Paralelo aos relatos de sua vida, em exercícios de escrita livre, a autora indiano-canadense propõe ao leitor que olhe para os traumas e as sensibilidades individuais, em defesa da prática como possibilidade de se defrontar com as feridas de cada um.

POLÍTICA SELVAGEM
Jean Tible, N-1 Edições, 320 págs., R$ 60
Após o relançamento de Marx Selvagem, versão da tese de doutorado do autor, Tible publica Política Selvagem, a partir de sua tese de livredocência junto ao Departamento de Ciência Política da USP. Segundo o autor, este é um desdobramento do “Marx”, relançado há menos de dois anos. A obra leva o leitor a passear pelos meandros mais concretos e palpáveis dos movimentos contemporâneos: feminismo, antirracista, LGBTQIAP+, indígenas e quilombolas, entre outros, pensando a política atual com as lutas das coletividades e suas incessantes revoltas atravessando tempos, espaços e mundos.
HEBDÔMEROS
Giorgio de Chirico 100/cabeças, 144 págs., R$ 60

Publicado originalmente em francês, em 1929, o livro do pintor italiano Giorgio de Chirico é considerado um dos textos-base do surrealismo. A obra, narrada na terceira pessoa, rompe com a convenção da literariedade como código estável e investe toda a sua carga na estruturação da prosa a partir de valores poéticos. O primeiro sinal disso é o protagonista, um metafísico, que pensa filosoficamente sobre o sentido da vida. As peregrinações do herói dão-se por paisagens oníricas, o que faz desta ficção a encarnação verbal da arte pictórica do autor.
A TIRANIA DAS MOSCAS

Elaine Vilar Madruga, Editora Instante, 224 págs., R$ 69,90 Vencedor do Prêmio Cálamo, na categoria Livro do Ano 2021, o romance constrói uma fábula insólita em torno da relação entre pais e filhos. A história mescla realismo mágico e humor ácido, ao mesmo tempo que discute o autoritarismo e a opressão nas relações políticas. Com personagens excêntricos, de um país ficcional infestado por moscas, A Tirania das Moscas busca causar estranhamento e incômodo com falas tensas, sarcásticas, em que o clima disfuncional da relação entre pais e filhos torna-se palpável.
FICÇÕES / KATIA MACIEL
manual do eu lírico contemporâneo ou coleção de eus
1 ser eu ser lírica
2 não ser eu não ser lírica
3
8 virginia woolf disse eu é apenas um termo conveniente para alguém que não possui um ser real
9 eu com isso eu nada disso
não esquecer que eu é outros embora outros não sejam eu
4 eu pode ser ficcional eu pode ser não ficcional eu pode ser friccional
5 diga a rimbaud se eu fosse outra daria na mesma
6 converse com ana c pela manhã com adília lopes à tarde
10 eu é asa eu é ata eu é ala eu é aba eu é ara eu é oco eu é osso eu é esse eu é sebes eu é solos eu é somos
GAROTAS BRANCAS
Hilton Als Editora Fósforo, 360 págs., R$ 99,90

Um conjunto de 13 ensaios costura perfis de personalidades da cultura estadunidense e do movimento negro. O autor, Hilton Als, coloca-se como espectador ativo e crítico de histórias que têm os conceitos de raça e gênero como pontos de inflexão. Criado em uma família imigrante negra de classe média em Nova York, a vida privada e social de Als é o ponto de vista da narrativa, direta e indiretamente autobiográfica. Garotas Brancas é o primeiro livro inédito de ensaios do escritor e crítico de teatro, que escreve atualmente na revista The New Yorker e ganhou o Prêmio Pulitzer, em 2017, na categoria Crítica. A tradução é assinada pela jornalista Marilene Felinto.
7 eu isso eu aquilo
20 21 VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023
Poema do livro Coleção de Eus (Cultura e Barbárie, 80 págs.), de Katia Maciel, lançado na ocasião da exposição individual da artista com curadoria de Veronica Stigger, até 25/3, na Zipper Galeria, São Paulo
A VIRADA IDENTITÁRIA
Em verbetes da Enciclopédia e projetos da instituição, obras (ou artistas) que trabalham uma arte de base biográfica e transcendem para o coletivo
PROJETOS
PAPO
Na coluna dedicada às artes cênicas, William Nunes Santana, editor do IC, entrevista o ator e dramaturgo Giordano Castro (1986), um dos fundadores do Grupo Magiluth. O time de Recife (PE) tem 19 anos de existência dedicados à pesquisa e experimentação cênica, com 11 espetáculos montados. Durante a pandemia, desenvolvem três experimentos concebidos para o momento de isolamento social, que demandam participação virtual ativa do público, com destaque para Tudo Que Coube numa VHS (2020), que conduz os espectadores em uma série de relações sensoriais a ser experimentada individualmente.
“É um lugar de provocação, de fazer com que essas provocações sejam como portas que fossem abertas pelas próprias pessoas”, afirma Castro na entrevista. Realizado com um público diverso, são notáveis as diferentes maneiras de afetação e sensibilidade individuais. A conversa, realizada em 2021, aborda a experimentação sensorial na Internet e as percepções dos projetos ao longo da pandemia. O texto pode ser lido na íntegra no site do IC.
VERSÕES DO TEMPO: PRIMEIRA PESSOA, COMO TORNAR
O ÍNTIMO UNIVERSAL?
O episódio abre a segunda temporada do podcast do IC que reúne profissionais e pesquisadores do audiovisual para dialogar sobre o documentário contemporâneo. A produtora e roteirista Daniela Capelato e a cineasta e roteirista Letícia Simões são entrevistadas em 2021 pela jornalista Ana Paula Sousa e a conversa traz reflexões em torno de formatos de autobiografias e os processos de construção dessas narrativas nos filmes Êxtase (2020), dirigido por Moara Passoni e corroteirizado por Capelato, e Casa (2019), dirigido por Simões.
TEATRO EXPERIMENTAL DO NEGRO (TEN)
Fundado em 1944, no Rio de Janeiro, por iniciativa do ator, escritor e economista Abdias do Nascimento (1914-2011), o grupo visa reabilitar e valorizar a herança cultural afro-brasileira por meio de iniciativas educativas e artísticas. A falta de textos nacionais que apresentem heróis negros leva o grupo à estreia, em 1945, da peça O Imperador Jones, do dramaturgo estadunidense Eugene O’Neill (1888-1953), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, realizam programas de alfabetização e iniciação cultural direcionados à população negra, criando uma equipe própria, alterando o mercado de trabalho e a expectativa do público. Com forte impacto no movimento cultural e social do Brasil, o TEN é pioneiro no debate racial na arte e contribui para a formação de uma importante geração de atores negros e no incentivo da criação de outras companhias de teatro e dança.
RENATA CARVALHO
Atriz, roteirista, dramaturga, diretora e ativista, Carvalho (Santos, SP, 1981) investiga as dimensões estéticas e políticas de vivências travestis na sociedade brasileira e é figura decisiva na representatividade trans no teatro. Aos 15 começa a formação no Teatro Municipal de Santos. Em 2002, funda a Cia. Ohm de Teatro e assina a direção de diversas montagens. Com 23 anos, muda-se para o Rio de Janeiro, onde performa como a drag Sandy Sabatelly. Além do teatro, trabalha desde 2007 como agente de prevenção voluntária na Secretaria Municipal de Saúde de Santos, momento que chama de seu “percebimento” travesti. Em 2016, protagoniza o espetáculo O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu, escrito pela escocesa Jo Clifford (1950), também uma mulher transgênero, em que a figura de Cristo é representada por um corpo trans, à sua imagem e semelhança, como celebração ao amor e à vida em sua diversidade, até que, no fim, a atriz distribui pão para a plateia, ressignificando o rito cristão. Apesar da ampla repercussão, o espetáculo marcante para a comunidade trans foi alvo de censura por grupos conservadores de todo o país.



BRANCO SAI, PRETO FICA
Com roteiro e direção do cineasta goiano Adirley Queirós (1970), o filme é considerado um marco na abordagem do racismo e da segregação territorial nas periferias do Brasil. Entre a distopia e o documental, Branco Sai, Preto Fica (2014) tem como fio condutor a violenta invasão policial, em 1986, ao Baile do Quarentão, na Ceilândia, que resulta na morte de jovens negros. A situação ficcional mostra Brasília dominada por um Estado autoritário que controla quais corpos entram ou não no distrito. Para investigar a história, o diretor utiliza documentos de época e testemunhos dos atores não profissionais, frequentadores do baile e que vivenciaram o acontecimento.


ACERVOS ITAÚ CULTURAL
FOTOS: DIVULGAÇÃO; E CORTESIA IPEAFRO
VERBETES
DE COXIA: MAGILUTH
VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023 22 23
A INVENÇÃO DO REAL NO SURREALISMO DE JACQUES LACAN PARTE

1
A PRIMEIRA REVISTA SURREALISTA SURGE UM ANO ANTES DO MONUMENTO À TERCEIRA INTERNACIONAL, NO QUAL TÁTLIN E RODSCHENKO FUNDAM O CONSTRUTIVISMO RUSSO, E UM ANO DEPOIS DO MANIFESTO DADAÍSTA DE TRISTAN TZARA1. Editada por Breton, Aragon e Soupault a revista Literature aparece no mesmo ano de 1919, juntamente com a primeira publicação do artigo estético central de Freud sobre o Unheimlich. Em 1921, Breton sai profundamente decepcionado de seu encontro com Freud. Nenhuma das afinidades propostas entre surrealismo e psicanálise teria sido compreendida, nem sequer a escrita automática. Para Freud, o jovem louco não tinha compreendido a psicanálise; para o revolucionário francês, o velho vienense é que não entendia o alcance de sua própria invenção. Breton e Soupault publicam Campos Magnéticos, em 1921, explorando uma afinidade procedural com a psicanálise, ou seja, a produção de textos automáticos, análogos aos obtidos por associação livre. Aqui eles introduzem um termo ausente e certamente criticável por Freud, ou seja, a ideia de que os efeitos surrealistas são obtidos por meio de um automatismo. Ainda que Freud fale em automatismo de repetição (Wierdeholungszwang), a palavra Zwang (coerção) traduz mal o francês automatism. Na verdade, ela encontra pela cidadania psicopatológica em Clérambault, aquele que Lacan reputa ser seu único mestre em psiquiatria e que teria descoberto a natureza assemântica dos primeiros fenômenos psicóticos, chamados também de fenômenos elementares. São tics, pequenos barulhos, perturbações da imagem, ecos de pensamento, ressonâncias involuntárias de sentido e ideias coercitivas, formalmente semelhantes aos fenômenos de brilho, mancha ou estranhamento estético (anamorfoses)
que nos acostumamos a ver na fenomenologia do objeto. Para Freud, não faria sentido procurar o automatismo, pois ele estava associado com a noção de função do real, proposta por seu adversário Pierre Janet. Entre a noção de aparelho psíquico, dominada pela noção de representação mental e a tese janetiana do excesso de realidade, Lacan partirá de uma terceira substância, a saber, a imagem. É na perda da forma, da permanência ou da unidade da imagem, nos estados de sonho, alucinação e alteração da consciência que o automatismo psíquico puro se manifesta. Ele antecipa o problema da causalidade do desejo, como efeito de um hiato ou de uma descontinuidade no sentido de realidade. Entre a realidade mentirosa, enganadora e alienante, expressa por um uso reificado, deformante e ideológico da linguagem, tanto Lacan quanto os surrealistas vão intuir a necessidade de um terceiro termo: o Real. A construção do conceito de Real em Lacan depende de três movimentos conjugados: (1) A hipótese de que o inconsciente, como Outra cena, como cena do sonho e do sintoma, possua uma realidade própria de natureza simbólica; (2) A observação de objetos ou fenômenos que se apresentam como interrupções do automatismo da realidade cotidiana, ao modo de estranhamentos contingentes, experimentados eles mesmos como causalidade; e
(3) A conjectura de que o Real se apresenta resistente à sua representação, seja pela imperfeição de sua imagem correlata, seja pela impossibilidade de nomeação, mas se apresenta como números, relações ou topologias que demandam linguagem não natural para serem escritos. Esses três movimentos, bem como suas implicações, estéticas, políticas e epistemológicas, serão encontrados por Lacan no movimento surrealista francês.
EPIFANIAS
Lembremos que em 1922, mesma data da Semana de Arte Moderna em São Paulo, Joyce publica sua epopeia linguística universal, refazendo o percurso da viagem fundadora da literatura ocidental na pequena Dublin colonizada pelos ingleses. Ulisses parece ser o protótipo esperado do antirromance, do romance feito para acabar com todos os romances. O
texto é repleto de pequenos encontros fortuitos, chamados também de epifanias, mas com poucas máquinas de escrever e nenhuma mesa de dissecação:
“ (...) o colega Simon Moonan é designado Chupa-ovo (suck-egg) do McGlade. Para encontrar o que existe na palavra “chupa”, “suck” no original, Stephen relembra
24 25 VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023 COLUNA MÓVEL / CHRISTIAN INGO LENZ DUNKER
FOTO: CORTESIA JERSEY HERITAGE E FUNDAÇÃO BIENAL DE SÃO PAULO
Self Portrait (in Cupboard), 1932, de Claude Cahun, obra que integrou a edição 34 da Bienal de São Paulo – Faz Escuro Mas Eu Canto (2021)
uma cena em que estivera no banheiro com o pai em um hotel em Wicklow. Quando a água escorrera pela pia, escutara um som análogo ao som da palavra “chupa”: xuuuuá. (...) Lembrar aquilo e a aparência branca do banheiro o fez sentir frio e depois calor. Havia duas torneiras que a gente girava para a água sair: fria e quente. Ele sentiu frio e um pouco de calor: e ele podia ver os nomes impressos nas torneiras. Aquilo era muito esquisito”. 2
O mesmo som pelo qual a água é chupada para o interior da pia remete ao nome de um amigo e a uma cena com o pai, entre o frio e o quente. Uma repetição que deforma a palavra até que ela se confunde com um barulho, ganhando assim uma estranha sensação de coincidência psíquica e corporal. As epifanias joyceanas são exemplos dessa combinação entre automatismo que ocorre no intervalo entre a duplicação e a descontinuidade da realidade, entre o sentido e o barulho, com sua típica combinação de efeitos: estranhamento, surpresa, desconcerto. Em 1924, aparece o Primeiro Manifesto Surrealista, juntamente com o Discurso sobre o Pouco de Realidade, de Breton, com uma extensa reflexão sobre o espelho, a alienação e nossa relação de fala com Outro:
“Tamanha é a crença na vida, no que a vida tem de mais precário, bem entendido, a vida real, que afinal esta crença se perde.3 (...) A imaginação tem todos os poderes, salvo aquele de nos identificar apesar de nossa semelhança a um personagem outro que nós mesmos.4 (...) Que me importa o que se diz de mim se eu não sei quem fala, a quem eu falo e no interesse de quem nós falamos?” 5
A recuperação da vida e da imaginação já aparece ligada ao sonho, porque o sonho introduz um tipo de descontinuidade e de precariedade que são condições para pensar o Real, não apenas como a ontologia aristotélica prescrevia, ou seja, combinação entre necessidade e não impossibilidade como contingência impossível:
“Com justa razão Freud dirigiu a sua crítica ao sonho. (...) pois que ao menos do nascimento à morte do homem, o pensamento não tem solução de continuidade, a soma dos momentos de sonho, do ponto de vista do tempo, a considerar só o sonho puro, o do sono, não é inferior à soma dos momentos de realidade”. 6
“Viver e deixar de viver é que são soluções imaginárias. A existência está em outro lugar.” Menos, portanto, do que inverter a realidade em uma busca da idealidade, de uma fuga linguística ou estética do mundo, os surrealistas estão dispostos a uma aventura em direção ao real:
“Acredito na resolução futura desses dois estados, tão contraditórios na aparência, o sonho e a realidade, numa espécie de realidade absoluta, de surrealidade, se assim posso dizer”.7 (primeira incidência do termo)8
REALIDADE IRREPRESENTÁVEL
Ao contrário dos impressionistas que, de certa forma, lutavam contra a fotografia, os surrealistas logo se apossaram dela como forma estética. Agora, o objetivo era fotografar sonhos, ou seja, usar “o beijo que o tempo dá na luz” 9 para capturar a Outra cena, a cena do inconsciente. Em 1928, Um Cão Andaluz , de Luis Buñuel e Salvador Dalí, devolvia a cena do olhar fotográfico ao seu próprio remetente, mostrando a famosa cena do olho-lua-luz cortada por uma navalha. Tudo se passa nesse instante pelo qual Duchamp quer tratar o corpo feminino como um
NOTAS
1. A magia de uma palavra – DADÁ – que levou os jornalistas às portas de um mundo inesperado, para nós não tem a menor importância. “Para lançar um manifesto é preciso querer: A.B.C., fulminar contra 1, 2, 3, se enervar e aguçar suas asas para conquistar e difundir pequenas e grandes a, b, c, assinar, gritar, jurar, organizar a prosa sob uma forma de evidência absoluta, irrefutável, provar seu non-plus-ultra e sustentar que a novidade se assemelha à vida como a última aparição de uma prostituta prova a essência de Deus. Sua existência já foi provada pelo acordeão, a paisagem e palavras doces. Impor seu A.B.C. é uma coisa natural – portanto lamentável. Todo mundo o faz sob uma forma de cristalblefemadona sistema monetário, produto farmacêutico, perna nua convidando à primavera ardente e estéril. O amor à novidade é a cruz simpática, prova de uma atitude ingênua de não-estou-nem-aí, sinal sem causa, passageiro, positivo.”
2. Joyce, J. (1923) Retrato do Artista Enquanto Jovem. 2013, p. 23).
3. Breton, A. (1924) Manifesto do Surrealismo. São Paulo: Brasiliense, p. 33.
4. Breton, 1924b/1992, p. 266.
5. Breton, 1924b/1992, p. 270.
6. Idem: 41.
7. Idem: 45.
8. Idem: 45.
9. Alexendrian, 1976
10. Lacan, J. (1970-1971) O Seminário Livro XIX ... ou pior
ready-made . De fato, esta é a última volta do surrealismo como embrião das lutas feministas. Ainda que o papel das mulheres, como autoras, ainda esteja por ser recuperado, tanto a fotografia de Man Ray quanto as colagens de Max Ernst e a pintura de Picasso moviam-se em torno das divas surrealistas. Dora Maar, essa argentino-croata, amante de Picasso, depois paciente de Lacan, era também fotógrafa, assim como Claude Cahun, personagem fundamental do feminismo queer e, depois, da resistência francesa. Apesar de os manifestos do movimento surrealista terem sido compostos por homens, seu centro de gravidade latente são as mulheres. Se a histeria era considerada o acontecimento político do século 19 é porque nela a mulher aparece como denúncia e silenciamento. Tal como no sonho, onde há o sentido manifesto e o sentido latente, na vida estética do surrealismo o sentido latente é a voz social a ser extraída. Daí que o tema da mulher seja o ponto de convergência entre os enigmas da cidade e o irrepresentável da realidade. Como afirmou Lacan, quase 40 anos depois: “(...) os imbecis do amor louco que tiveram a ideia de substituir a função da mulher irreal se autodenominavam surrealistas”. 10

27 VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023
Still de Um Cão Andaluz (1928), de Luis Buñuel e Salvador Dalí
MUNDO CODIFICADO
FATO E FICÇÃO NA ARTE
JOGOS COMO CAÇA-PALAVRAS, LIGUE OS PONTOS E VERDADEIRO
OU FALSO DESAFIAM O LEITOR A DISTINGUIR REALIDADE DE IMAGINAÇÃO
NO MUNDO DAS ARTES
LUANA ROSIELLO
Dentre os muitos significados de “diversão”, a palavra carrega o sentido de mudança, de desvio da atenção do assunto em que se está concentrado, alterando o espírito das coisas que preocupam alguém; uma distração. Para os surrealistas, uma das atividades que sugeriam e praticavam para escapar do “esmagamento do espírito” que os assolava eram os jogos – especialmente os de linguagem. Mas, em um jogo, se estamos distraídos, como saberemos o que é verdade ou mentira? Divirta-se nesta descoberta.
O BASTARDO
ULAY
VALIE EXPORT
CARMELA GROSS
VÉIO
MAREPE
JOTA
TUNGA
LIGUE O NOME AO ARTISTA:
JOHNY ALEXANDRE GOMES
MARCOS REIS PEIXOTO
CÍCERO ALVES DOS SANTOS
ANTÔNIO JOSÉ DE BARROS CARVALHO E MELLO MOURÃO
WALTRAUD LEHNER
MATEUS MAIA
FRANK UWE LAYSIEPEN
MARIA DO CARMO DA COSTA GROSS
VERDADEIRO OU FALSO?
V ( ) F ( )
Durante a adolescência, Leonora Carrington, entusiasta do folclore celta, estudava para fazer levitação
V ( ) F ( )
Salvador Dalí foi expulso da Academia de Belas Artes de San Fernando, em 1926, por afirmar que seu professor não seria capaz de avaliar a sua produção
V ( ) F ( )
Maria Martins e seu marido, Carlos Martins Pereira e Souza, tinham um casamento aberto. Entre 1943 e 1948, a artista manteve um relacionamento amoroso com Marcel Duchamp
85 VOL. 11 N. 53 MAR/ABR/MAI 2022 FOTO: CORTESIA DO ARTISTA A S A E S U B L T A H B N H I A N E I E R S F I H S P A U T I I Y U D R R T J T N R A A A I R E V H P H E O N P F A N T A S M M Ç B M O A O S A A E S U P E U IR O T D S A E S U B T E R F Ú G I O U O K T A H B N H L V C P B B Y H L F N A N E I E R M L E G Í T I M O S A F I H S P A A G Y R O L Í D I M O T I I Y U D I N U S A N E E I P U R T J T N R H L C R D Z O S O T A A A I R E V I R A V O L T A O A L P H E O N P A D A R D I L T C T V A N T A S M A G O R I A T I S C O Ç B M O A O I E E F B M E N F T N A A E S U P E R F I C C I O N A L U IR O T D E S Í G N I O N L H G
LIGUE OS PONTOS:
85 B T E R F Ú G I O U O K H L V C P B B Y H L F N R M L E G Í T I M O S A A A G Y R O L Í D I M O D I N U S A N E E I P U R H L C R D Z O S O T A V I R A V O L T A O A L P A D A R D I L T C T V M A G O R I A T I S C O O I E E F B M E N F T N P E R F I C C I O N A L D E S Í G N I O N L H G FOTO: CORTESIA DO ARTISTA A S A E S U B T E R F Ú G I O U O K L T A H B N H L V C P B B Y H L F N I A N E I E R M L E G Í T I M O S A S F I H S P A A G Y R O L Í D I M O U T I I Y U D I N U S A N E E I P U R R T J T N R H L C R D Z O S O T A A A A I R E V I R A V O L T A O A L H P H E O N P A D A R D I L T C T V F A N T A S M A G O R I A T I S C O M Ç B M O A O I E E F B M E N F T N S A A E S U P E R F I C C I O N A L E U IR O T D E S Í G N I O N L H G ALVO ARDIL DESATINO DESÍGNIO FANTASMAGORIA LEGÍTIMO LISURA LÍDIMO REVIRAVOLTA SUBTERFÚGIO SUPERFICCIONAL TRAPAÇA VERAZ CAÇA-PALAVRAS A S A E S U B T E R F Ú L T A H B N H L V C P B I A N E I E R M L E G Í S F I H S P A A G Y R O U T I I Y U D I N U S A R R T J T N R H L C R D A A A I R E V I R A V O H P H E O N P A D A R D F A N T A S M A G O R I M Ç B M O A O I E E F B S A A E S U P E R F I C E U IR O T D E S Í G N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
JOGO DOS 7 ERROS ENCONTRE AS DIFERENÇAS NA OBRA SEM TÍTULO (1969-77), DE MADALENA SANTOS REINBOLT
85 VOL. 11 N. 53 MAR/ABR/MAI 2022 B T E R F Ú G I O U O K H L V C P B B Y H L F N R M L E G Í T I M O S A A A G Y R O L Í D I M O D I N U S A N E E I P U R H L C R D Z O S O T A V I R A V O L T A O A L P A D A R D I L T C T V M A G O R I A T I S C O O I E E F B M E N F T N P E R F I C C I O N A L D E S Í G N I O N L H G FOTO: CORTESIA DO ARTISTA A S A E S U B T E R F Ú L T A H B N H L V C P B I A N E I E R M L E G Í S F I H S P A A G Y R O U T I I Y U D I N U S A R R T J T N R H L C R D A A A I R E V I R A V O H P H E O N P A D A R D F A N T A S M A G O R I M Ç B M O A O I E E F B S A A E S U P E R F I C E U IR O T D E S Í G N
VIRADA CELESTE
35
PROPONDO EXPERIMENTAÇÕES
SENSÍVEIS DE MUNDOS INVENTADOS, AS ARTISTAS IGI LOLA AYEDUN, SONDRA PERRY E VITÓRIA CRIBB



ENDEREÇAM ANIQUILAÇÕES E
POSSIBILIDADES DE VIDAS PRETAS
NA REALIDADE
MATEUS NUNES
PORTFÓLIO
A DEMOCRATIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DIGITAIS, AO
MESMO TEMPO QUE AMPLIFICA AS VOZES USUALMENTE DISSIDENTES, PERPETUA ALGORITMOS E FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL QUE INVESTEM NA CONTRAMÃO: ABSORVEM INPUTS RACISTAS DADOS POR PROGRAMADORES IGUALMENTE RACISTAS; APRENDEM A PARTIR DELES, OS CULTIVAM E OS DISSEMINAM. Refletem, em suas imagens vigilantes e vigiadas, os códigos sociais hegemônicos que perpetuam as máculas do segregacionismo colonialista.
Os trabalhos das artistas brasileiras Igi Lola Ayedun e Vitória Cribb e da estadunidense Sondra Perry atentam para o fato de que, por mais que se possa produzir por meio dessas tecnologias um grande corpo arquivístico de imagens de pessoas negras – cuja perenidade é rara na historiografia ocidental, em que o arquivo documental desses indivíduos sempre foi aniquilado –, esse próprio arquivo se converte em munição para o ataque. Como ferramenta de afirmação de existência, as artistas operam tecnologias digitais na criação de mundos em que pessoas pretas existem em plenitude – com potenciais de denúncia e mudança.

Centrada em uma prática propositadamente ambígua, Vitória Cribb opera instâncias consagradas e antagônicas nos sistemas sociais, artísticos e estéticos contemporâneos por meio de animações e imagens em CGI (Computer Generated Images), e ambientes imersivos e de experimentação em realidade aumentada para a web. Ao desenvolver o conceito de “espontaneidade programada”, a artista carioca aponta tanto para as falhas de um sistema rígido baseado na repetição mecânica que, às vezes, gera acidentais lampejos afetivos ou subjetivos quanto para a supressão de uma espontaneidade pessoal alinhada ao comportamento computacional.
Sobre vidas condicionadas a narrativas repetidas Cribb desenvolveu @Ilusão (2020), um curta-metragem de animação que combina modelagem 3D e gravações de áudio da própria artista, apontando reflexões intensificadas pelo isolamento pandêmico em 2020. Em um tipo de necrovigilância, vivia-se em um contexto em que gráficos eram atualizados a cada minuto com números vertiginosos de mortes. A artista expressa seu desconforto com a exaustiva sensação de repetição modulada e aprisionante, que nega a sinuosidade e a imprevisibilidade dos fatos da vida
fora das telas. Ao questionar a lapidação de gostos feitos por algoritmos, Cribb debate se as reflexões críticas não foram desarmadas, servindo como dispositivos ilusórios de mudança, mas que apenas nos mantêm presos a uma programação ininterrupta.
Em trabalho comissionado para a exposição coletiva Who Tells a Tale Adds a Tail, curada por Raphael Fonseca no Denver Art Museum, a artista realiza a videoinstalação VIGILANTE_EXTENDED (2022), que apresenta mulheres-ciborgues responsáveis por recolher informações que abastecem os sistemas digitais de vigilância. As protagonistas da obra combinam aspectos de estranheza e certa bestialidade, modeladas por Cribb em corpos repletos de olhos e orelhas espalhados pelo corpo. Ao mesmo tempo exibe esses seres em poses convidativas ao olhar, flertando com a graciosidade e a sinuosidade de representações femininas helenísticas. Como medusas, as vigilantes atraem o olhar para usufruir da essência de quem as observa: sorvem suas informações para abastecer um sistema totalitário de vigilância. Entretanto, continuando o jogo espelhado proposto pela artista, essas entidades que parecem deter tanto poder são, na verdade, figuras passivas, sem poder algum de emissão de discurso formal, servindo apenas como instrumentos de vigilância. As figuras que parecem ser sobre-humanas são, na verdade, sub-humanas.
Cribb, a partir dessas dinâmicas, faz colidirem as noções hegemônicas que determinam o que se compreende por beleza e feiura em uma história da arte eurocêntrica, questionando a pertinência desses moldes binários no contexto contemporâneo. Transpassa esse debate, inclusive, para as leituras feitas acerca dos corpos de mulheres pretas, em um cenário atual assente em estruturas racistas e misóginas. Reitera de forma crítica a compreensão desses corpos como indesejáveis e intocáveis; indignos de amor, mas alvos de curiosidade; rapidamente substituíveis e descartáveis. A demonização taxativa, a subserviência humilhante e o silenciamento absoluto impostos pelo colonialismo às mulheres negras também são endereçados por Cribb de forma enfática na obra Prompt de Comando (2019). De cunho bastante autobiográfico, Prompt de Comando denuncia, através da própria plataforma da programação, as repetições esbravejadas a corpos dissidentes, objetivando que eles se adaptem a um discurso não crítico, linear, normatizado e padronizado. Cribb alarma sobre o paralelismo entre o tratamento de pessoas marginalizadas e máquinas: sem alma, são lidas como mercadorias, exploráveis de forma inesgotável, cujo conteúdo é facilmente vendido. Sobre o fundo preto do prompt de comando de seu computador pessoal escreve confissões digitais semelhantes a escritas de um diário: instruções subjetivas que não conseguirão ser lidas pelos sistemas incapazes baseados na objetividade repetitiva.

FOTOS: CORTESIA DA ARTISTA
Stills (aqui e na dupla de págs. anterior) de VIGILANTE_EXTENDED (2022), de Vitória Cribb
Igi Lola Ayedun recentemente divulgou na internet a série Há Muito Venho Sonhando com Imagens Que Nunca Vi, desenvolvida durante a Bolsa ZUM/IMS 2022, parte de um projeto em andamento intitulado Eclosão de um Sonho, uma Fantasia. A partir da constatação de um cenário contemporâneo em que a produção e o consumo de imagens são ininterruptos e tão dinâmicos quanto as possibilidades de suas criações, a artista paulistana conceitua esse continuum como “mobilismo imagético” e propõe que suas fotografias sejam vistas como frames de cenas em movimento, capturando um fluxo sempre dinâmico, similar ao pensamento cinematográfico e à experiência do sonho – o próprio título da série reflete esse ritmo, “sonhando”, no gerúndio. As fotografias são criadas por meio de softwares de inteligência artificial, sobretudo a plataforma MidJourney, que usa a tecnologia text-to-image. Dessa forma, Ayedun insere (ou ensina à máquina) um vasto corpo de texto que detalhadamente descreve a imagem a ser virtualmente fotografada. Com formação transdisciplinar, a artista também se aproveita do amplo repertório adquirido como diretora editorial de moda, quando desenvolveu a habilidade de descrever com precisão a configuração espacial de um set fotográfico – desde as direções dadas às pessoas retratadas, até a posição e o tipo de iluminação usados. A partir dos dados inseridos, a plataforma então apresenta quatro fotografias com diferentes interpretações das descrições propostas. Às vezes, Ayedun retroalimenta o sistema com as mesmas fotografias – desta vez na dinâmica image-to-image –, gerando novas imagens com os padrões detectados nas fotografias analisadas. Alimentando a geração da imagem, Ayedun também fornece informações específicas sobre técnicas fotográficas em seus códigos, incluindo definições de câmera, lente, abertura de diafragma, tempo de exposição, distância focal e ISO. Esses aspectos tornam a imagem resultante parecida com uma fotografia, em vez de uma composição abstrata. Eles não buscam uma classificação rigorosa para


42 VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023
considerar as imagens como fotografias, mas sim uma revisão provocativa do que é entendido tradicionalmente como fotografia. A série é protagonizada por pessoas cujas peles, cabelos e/ ou roupas são da cor azul-ultramar. Ayedun continua sua profunda pesquisa sobre as origens e usos do pigmento que difunde essa cor em sistemas estéticos africanos ligados às suas ancestralidades. Reforça a presença dessa cor como marca cultural e determinante em vários sistemas estéticos, propondo imagens fantasiadas com esse matiz: “Em certo momento, eu via, sonhava e dizia que pessoas negras eram azuis”, conta a artista à seLecT_ceLesTe. A ficção aqui não nega a negritude; concebe um cenário em que as dificuldades impostas aos corpos negros estigmatizados desaparecem, ao mesmo tempo que reafirmam suas genealogias e suas existências em imagens sonhadas. Alinhada ao conceito de “fabulação crítica” de Saidiya Hartman – que a artista acredita ser um atravessamento teórico na produção artística da atual geração racializada –, propõe imagens sonhadas sobre vazios de informações e acúmulos autobiográficos. Desde a infância até o início da vida adulta, Ayedun desenvolveu uma série de problemas oculares congênitos que acarretaram sua atual visão monocular, com dificuldade de percepção de distâncias, profundidades e espaço. As imagens sonhadas, portanto, são construções visuais que lhe possibilitam experimentar – e gerar – cenas fisicamente inapreensíveis, mas possíveis através de tecnologias fabulativas. O olho, dispositivo óptico que o desenvolvimento da câmera fotográfica objetiva mimetizar, tem sua experiência reconstruída pela artista por meio de prompts de comando. Expandindo o projeto Eclosão de um Sonho, uma Fantasia, Ayedun atualmente desenvolve uma série de trabalhos com base em um software próprio que gera imagens abstratas a partir de encefalogramas. Usando dados coletados em 14 nós conectados à sua cabeça, a artista transforma ações corporais em um conjunto de dados que é interpretado e ensina o programa de inteligência artificial gerador de imagens. As obras serão apresentadas em uma exposição na Pivô, em São Paulo, no início de abril.

44 VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023
VOL. 12 N. 57
Há Muito Venho Sonhando com Imagens Q ue Nunca Vi IX (2022), da série Eclosão de um Sonho, uma Fantasia; na página anterior, detalhe da obra final Eclosão de um Sonho, uma Fantasia (2023), de Igi Lola Ayedun

46 VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023 IGI LOLA AYEDUN NÃO BUSCA UMA CLASSIFICAÇÃO RIGOROSA PARA CONSIDERAR AS IMAGENS COMO FOTOGRAFIAS, MAS SIM UMA REVISÃO PROVOCATIVA DO QUE É ENTENDIDO TRADICIONALMENTE COMO FOTOGRAFIA Eclosão de um Sonho, uma Fantasia
Igi Lola Ayedun FOTOS: CORTESIA DA ARTISTA
(2023), de
O uso de um azul predominante para tratar das interseções entre arte, questões raciais e tecnologia é levado a outras direções por Sondra Perry. A artista estadunidense, cuja obra é incontornável no âmbito das artes digitais, utiliza em alguns de seus trabalhos o azul típico do chroma key, empregado em filmagens para retirar elementos no processo da edição. Perry argumenta que, além de a cor ter sido estabelecida na prática audiovisual por contrastar com a maioria das cores de pele humana, ela representaria o anverso da cor do ser: já que nenhuma cor de pele se aproximaria desse azul, ele é lido como espaço negativo, cujo corpo é subtraído e inexistente. Perry denuncia que os corpos de pessoas pretas são percebidos dessa forma na sociedade contemporânea.
Amplificada pelos instrumentos tecnológicos em dinâmicas racistas de vigilância, a existência das pessoas pretas é propositalmente removida de histórias e imagens, como o faz o chroma key. Perry pareia a ação de retirar o fundo azul e isolar os indivíduos pela ferramenta com a dissociação entre corpos e suas narrativas contextualizantes, o que se ilustra pela falta de representatividade de pessoas pretas e pelas privações de suas próprias histórias a partir de dinâmicas do discurso hegemônico. Sobrepostos ao fundo azul, a artista dispõe no espaço objetos feitos de barras esportivas, simulando jogadores de basquete em posições de defesa. Monitores fixados a esses objetos exibem trechos de corpos modelados pela artista, que pontua que, em alguns contextos, pessoas pretas são mais aceitas, como no basquete estadunidense, mas que tal inserção é feita a partir de um processo maior de apagamento e exotização. Ao anexar reminiscências em objetos descontextualizados, Perry traça explícitos paralelos autobiográficos, com fotos de infância em

48 VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023
VOL. 12 N. 57
SONDRA PERRY FAZ
USO DO AZUL CHROMA
KEY PARA TRATAR
DAS INTERSEÇÕES ENTRE ARTE, QUESTÕES RACIAIS E TECNOLOGIA

50 VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023
FOTOS: MIKE DIN / CORTESIA SERPENTINE SACKLER GALLERY
Vistas da exposição Typhoon Coming On (2018), de Sondra Perry, na Serpentine Sackler Gallery
visita ao Metropolitan Museum de Nova York, por exemplo, vivenciando acervos museológicos ocidentais formados a partir do saque de patrimônio histórico africano. Em Typhoon Coming On (Tufão Se Aproximando), animação de 2018, a artista manipula digitalmente a imagem da pintura feita em 1840 por J. M. W. Turner, intitulada Slave Ship (Slavers Throwing Overboard the Dead and Dying, Typhoon Coming On) [Navio Negreiro (Escravos Jogando ao Mar os Mortos e Moribundos, Tufão Se Aproximando)], onde se representa o afogamento de 133 escravizados pelo capitão do navio britânico. Perry denuncia que o assassinato de escravizados durante as viagens era uma estratégia de alguns países europeus que, para conseguir dinheiro, acionavam os seguros de seus navios e atestavam que durante a viagem haviam perdido seus “bens” – e não “pessoas”, como afirma a artista em vídeo da Serpentine Galleries.

52 VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023
FOTO: CORTESIA BRIDGET DONAHUE GALLERY
IT'S IN THE GAME '17 or Mirror Gag for Vitrine and Projection (2017), de Sondra Perry, vídeoinstalação exposta na Bridget Donahue Gallery
IMPONDERÁVEL E INTANGÍVEL, A ESFERA CELESTE TEM SEUS MECANISMOS DE REPRESENTAÇÃO DISCUTIDOS POR
ARTISTAS BRASILEIROS DE DIFERENTES GERAÇÕES

CONSTRUÇÃO DO
A CURADORIA
LEANDRO MUNIZ
VOL. 12 N. 57 MAR/ABR/MAI 2023 Projeto para Construção de um Céu #1 (1981), de Carmela Gross FOTO: CORTESIA DA ARTISTA E GALERIA VERMELHO CÉU
EM SEU PROJETO DE MESTRADO, CARMELA GROSS PRODUZIU 33 DESENHOS DE OBSERVAÇÃO RETRATANDO O CÉU DE SÃO PAULO. Cada uma das pranchas de Projeto para Construção de um Céu (1981) é acompanhada de uma retícula que esquadrinha o plano, de uma notação técnica que marca escalas e datas, e de fragmentos do mapa celeste do Hemisfério Sul. Há também uma projeção ortogonal que descreve apenas os contornos das nuvens desenhadas com cor no fundo, como um desenho sobre o próprio desenho. Seus diferentes modos de desenhar evocam artistas canônicos da história: o sfumato de Leonardo da Vinci, as pinceladas espiraladas de William Turner, as nuvens volumosas e serenas de John Constable, as hachuras do desenho japonês, e assim por diante. Feitos com lápis de cor sobre papel Fabriano, esses desenhos têm tons cinza, rosa, brancos, laranja, amarelos, entre outros tantos para além do esperado azul. Parece impossível definir os limites ou as fronteiras do céu, localizar a última partícula de ar que compõe a atmosfera, ou fixar a incidência de luz sobre o planeta e seus inúmeros efeitos de refração, difração e reflexão na camada gasosa que envolve a Terra. Postas a mutabilidade e a infinitude do tema, representar o céu implica um código que talvez diga mais sobre suas possibilidades e limites do que sobre o objeto ou do que podemos saber sobre ele.
ANYWHERE IS MY LAND
Há milênios e em diferentes culturas, é possível orientarse pelas estrelas, localizando-se a partir das posições
relativamente fixas de algumas constelações. Tomar o céu como mapa implica pensar territórios, pertencimentos e, como toda cartografia, uma esquematização de algo maior do que essa representação pode abarcar.
Quando Antonio Dias (1944-2018) intitula suas pinturas pretas polvilhadas de branco de Anywhere Is My Land (1968), o artista mobiliza uma série de relações históricas, geopolíticas, identitárias e cósmicas em uma mesma dinâmica. O rigoroso grid branco aplicado sobre elas contrasta com a aleatoriedade da distribuição dos pontos, e algumas têm uma notação de escala: 1:1. A frase em inglês (qualquer lugar é minha terra) vai bem ao encontro a uma crescente dominação sociocultural estadunidense na época e cria conexões entre o celeste e o terreno. Considerando o discurso nacionalista da ditadura civil-militar vigente no período, a recusa em participar de um território fixo é um chamado à liberdade como condição política. Olho para as estrelas e me localizo: o universo é o meu lugar. Se o céu pode ser usado como ferramenta de orientação, as formas como o codificamos refletem geopolíticas e suas respectivas epistemologias. Como lidar com aquilo que escapa, não cabe em categorias ou é impreciso? Algo muito caro ao pensamento artístico e seu acolhimento da indeterminação, em especial naquilo em que a ficção pode especular sobre o real.


56 VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023
1001 Noites Possíveis (2012), de Rivane Neuenschwander; na dupla de páginas a seguir, Anywhere Is My Land (1968), de Antonio Dias
FOTOS: CORTESIA FDAG; E CORTESIA ESPÓLIO ANTONIO DIAS E GALERIA NARA ROESLER

FOTO: ANTONIO DIAS, "ANYWHERE IS MY LAND" (1968), TINTA ACRÍLICA SOBRE TELA, 130 X 195 CM, COLEÇÃO RARA DIAS/CORTESIA ESTATE ANTONIO DIAS E GALERIA NARA ROESLER
TOMAR O CÉU COMO MAPA IMPLICA PENSAR
TERRITÓRIOS, PERTENCIMENTOS E UMA
ESQUEMATIZAÇÃO DE ALGO MAIOR DO QUE
ESSA REPRESENTAÇÃO PODE ABARCAR
Laura Andreato cria folders que esquematizam as cores do pôr do sol e coloca espelhos sobre a grama, refletindo o céu azul no tema e nas palavras escritas: Blue Sky, Sky Blue. Planetarium (2010) é um saquinho de veludo preto cheio de glitter prateado; na parte externa há o título estampado. Quando aberto, o trabalho evoca a imagem do espaço povoado de estrelas. O preto pontilhado é a representação mais elementar do cosmo e, nessa associação de escalas e imagens, a artista sugere que podemos guardar o universo inteiro dentro do bolso.

BONITA É A NOITE COM A SUA FUNDURA
Frase repetida em coro pelos integrantes do grupo de estudos Práticas Desobedientes em palestra homônima, na qual conectam os mistérios do céu estrelado aos seus anseios sociais e políticos mais imediatos. Talvez porque o macro e o micro tenham equivalências.
À noite, quando um dos lados da Terra está voltado para o escuro, o Sol não ofusca as outras estrelas e o brilho daquelas mais longínquas chega até nós. Considerando a distância e a velocidade da viagem da luz pelo espaço, boa parte delas provavelmente já está morta, e vemos apenas o índice de algo que já não está lá.
As representações da noite e suas múltiplas metáforas são assunto recorrente na música onde constituem um gênero, de caráter intimista e meditativo, chamado “noturno”. O negrume da noite é cantado pelo Ilê Aiyê, e os versos do rapper Rincon Sapiência transmutam o escuro noturno na pele da atriz Lupita Nyong’o.
Poderíamos aprender a enxergar nas trevas, como tantos animais fazem, ou interrogar se é possível “ver um trabalho de arte na escuridão total”, como propõe o historiador da arte estadunidense Darby English em livro homônimo. Rivane Neuenschwander picotou o livro As Mil e Uma Noites, usando um furador e colou os círculos com fragmentos de textos sobre pranchas de papel preto, em composições que evocam galáxias. A cada exposição, os conjuntos de desenhos são organizados em grids como calendários que marcam o tempo da mostra. Mesmo que intangível, o céu é uma ferramenta de localização no espaço e no tempo.
Desde 2014, Ricardo Alves pinta o universo baseado em imagens de alta definição captadas pela Nasa. Suas pinturas são construídas com grossas camadas de tinta, gerando um contraste perceptivo entre massas de óleo e imagens de profundidade. Ultra Deep Field Falhado (2015) talvez se insira nessa tradição de representações do céu que proponho:
61
FOTOS: DING MUSA / CORTESIA GALERIA LUCIANA BRITO; E CORTESIA MENDES WOOD DM
Ficções (2007), de Regina Silveira, no Museu Vale do Rio Doce; nas páginas seguintes, Gruta (2014), de Patrícia Leite

imagens de céus que não refletem uma “cor local”, que embaralham territórios e modos de representação, que colocam em questão suas próprias falhas em relação ao objeto.
OLHA PRO CÉU, MEU AMOR
Nos convoca Luiz Gonzaga. A artista Patrícia Leite também chamou Gonzagão para a conversa em uma individual composta apenas de pinturas de fogos de artifício e com o mesmo título da parte final deste texto. O céu é um assunto recorrente em sua produção, em especial os enquadramentos através dos quais é visto. Na pintura Gruta (2014) há uma larga margem preta ao redor da forma ameboide que o delimita. Título e composição sugerem a imagem de um espaço interior, e a forma orgânica e irregular que circunscreve a paisagem celeste tem algo de onírico, como no recurso usado no cinema ou nos quadrinhos para indicar um sonho.
Sandra Cinto também tem o céu como assunto frequente em sua obra. Seus desenhos e pinturas têm um caráter poético, mesmo que sejam representações de céus revoltos ou turbulentos. No início de sua prática, nos anos 1990, a artista produziu a série Sem Título, feita a óleo em médias e grandes dimensões. Os céus eram vazios e anunciavam apenas sua própria luminosidade por entre as pesadas nuvens de dias de chuva, todas em tons de vermelho, como céus sangrentos no dia do Apocalipse.

O suposto lirismo das representações do céu também tem seus correspondentes trágicos ou de questionamento, que vão desde pensar os limites da representação sobre esse assunto até as possíveis angústias de enfrentamento com a imensidão. Seria possível uma imagem que reproduzisse o efeito imersivo da experiência direta de olhar para o céu?
Na instalação Entrecéu (2007), Regina Silveira cobre o chão e as paredes do espaço expositivo com um plotter cuja imagem é de um céu azul com nuvens plácidas. Uma claraboia na sala gera a continuidade entre as imagens e o céu lá fora. Ao forrar o espaço com essas imagens, a artista torna concreta a expressão “andar nas nuvens”, paradoxalmente transformadas em um abismo.
Esses trabalhos não apenas tomam o céu como tema ou naturalizam seus modos de representação, mas, na tentativa de representá-lo, em sua instabilidade e infinitude, colocam seus códigos como um problema a ser questionado ou ao menos tornado opaco. Eu poderia também falar sobre Lucy flutuando no céu povoado de diamantes psicodélicos na música dos Beatles, sobre Cartola nos convocando a olhar o céu na esperança de um bom dia, ou só fechar os olhos e sentir o céu dentro da boca.
REPRESENTAR O CÉU IMPLICA UM CÓDIGO QUE TALVEZ
DIGA MAIS SOBRE SUAS POSSIBILIDADES E LIMITES DO QUE
SOBRE O OBJETO OU DO QUE PODEMOS SABER SOBRE ELE
64 VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023
FOTOS: CORTESIA DAS ARTISTAS
Sem Título (1993), de Sandra Cinto; nas páginas seguintes, Projeto para Construção de um Céu #10 (1981), de Carmela Gross

> ACESSE A PLAYLIST EM WWW.SELECT.ART.BR
O ESTRONDO PANMELA CASTRO
COM EXPOSIÇÃO PANORÂMICA DE SUA TRAJETÓRIA
PREVISTA PARA MARÇO DE 2024 NO MUSEU DE ARTE DO
RIO E LIVRO RECÉM-LANÇADO PARA COMPARTILHAR
CONHECIMENTO SOBRE ARTE, PANMELA CASTRO DÁ AULA
SOBRE SER MULHER NO BRASIL

PERFIL
MONACHESI
JULIANA
(2021),
EM UMA TERÇA-FEIRA CHUVOSA DE FEVEREIRO, DIANTE DE UMA PLATEIA QUASE EXCLUSIVAMENTE DE MULHERES, NA LIVRARIA MEGAFAUNA, NO CENTRO DE SÃO PAULO, MAYBEL SULAMITA, COORDENADORA DE COMUNICAÇÃO DA REDE NAMI, FEZ AS APRESENTAÇÕES DAS OUTRAS TRÊS INTEGRANTES DA MESA DE LANÇAMENTO DO LIVRO HACKEANDO O PODER – TÁTICAS DE GUERRILHA PARA ARTISTAS DO SUL GLOBAL. Panmela Castro é sobrevivente de violência doméstica, artista, ativista e fundadora da Nami, anunciou. Vulcanica Pokaropa foi apresentada como artista trans, doutoranda em artes pela Unesp e autora de um dos ensaios do livro; e Carollina Lauriano, como curadora independente, responsável pela curadoria de obras reunidas na publicação. As três palestrantes falaram sobre práticas coletivas, dissidências e decolonialidade em suas apresentações de Hackeando o Poder, que é um manual acessível, organizado pela Rede Nami e publicado pela Editora Cobogó, que ensina às jovens como se profissionalizar na arte. “O mais importante não é a arte, a carreira, o dinheiro, é o avanço de todes por meio do conhecimento como uma tecnologia a ser compartilhada”, resumiu Panmela Castro. Autora de uma obra testemunhal e feminista, Castro explora diferentes linguagens, com predomínio de pintura, performance e fotografia. Duas séries anteriores à sua participação nas mostras Enciclopédia Negra (2021) e Histórias Brasileiras (2022), que marcam a definitiva e irreversível institucionalização da obra da artista, já sintetizavam a maturidade de seu trabalho: #RetratosRelatos (2019-20) e Vigília (2020-21). Na primeira, a atuação à frente da ONG voltada a mulheres vítimas de violência doméstica, a Rede Nami, e a experiência com a pintura resultam em um conjunto de retratos mostrados em forma de dípticos, ao lado dos relatos de abuso e outros temas do universo das mulheres enviados pelas retratadas à artista. Nenhum dos registros tem maior importância que o outro, ao contrário, os pares pintura/texto desvelam o processo catártico de tornar públicas as agressões que muitas mulheres sofrem caladas. Na segunda série, realizada depois do período mais rígido da pandemia, em 2020, amigos de Panmela posam para retratos no ateliê da artista ao longo de uma noite (daí o título, Vigília) em que as conversas, a música, a dança e tudo o mais que fez parte dessa experiência compartilhada encontram-se plasmados sobre a tela.

Em 2021, Panmela Castro entrou para o time seleto da Galeria Luisa Strina, onde realizou a primeira individual no mesmo ano, feito raro, considerando a agenda concorrida de uma galeria blue chip. Ostentar É Estar Viva, com
curadoria de Daniela Labra, homenageou cinco mulheres do círculo íntimo da artista, por meio de retratos e outros elementos narrativos, como fotos, printscreens de redes sociais, relatos e arte de base textual (text-based art) Dessa última tipologia é a peça que deu título à exposição: um espelho com moldura de obra de arte, sobre o qual Panmela pichou, com spray preto, “Ostentar é estar viva”. Na individual na GLS, a obra foi colocada no final do corredor que liga a sala principal à segunda sala expositiva e, mesmo exposta nesse local de passagem, foi o trabalho mais instagramado da mostra. No período de 26 de novembro de 2021 a 15 de janeiro de 2022, perdi a conta de quantxs conhecides vi refletidos naquele espelho passando no meu feed. Brancos, pretos, homens, mulheres, jovens e velhos, todes pareciam se identificar com a máxima de Panmela Castro, que me soa, a bem da verdade, uma afirmação geolocalizada, relacionada a ser uma mulher negra no Brasil. Mas por acaso selfie tem falsa consciência?
GRAFITE, ARTE E ATIVISMO
Uma hora antes do evento de lançamento de Hackeando o Poder, na Megafauna, Panmela Castro conversou com seLecT_ceLesTe sobre sua trajetória como artista, ativista e empreendedora, papéis sociais que ela junta magistralmente na concepção desse manual para jovens artistas, que reúne 58 colaboradores, entre autoras, artistas convidadas para participar com obras, e equipe envolvida na criação desse marco na arte brasileira do século 21. A entrevista começou pelo nome e missão da ONG que Panmela fundou em 2010: “NAMI significa ‘mina” na língua TTK”, conta, referindo-se à linguagem dos grafiteiros das

VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023
Capa de Hackeando o Poder ; à dir., Ostentar É Estar Viva
de Panmela Castro; na dupla de páginas anterior, Vigília com Mc Carol (2021)
FOTOS:
GALERIA LUISA STRINA (NESTA PÁGINA E NA DUPLA DE ABERTURA) 70
EDITORA COBOGÓ/DIVULGAÇÃO; EDOUARD FRAIPONT/CORTESIA

Retrato de Maria Auxiliadora (2022), pintura de Castro que integrou a mostra Histórias Brasileiras, no Masp; na dupla de páginas anterior, Vulcanika Pokaropa, da série Vigília (2021)

ruas do Catete, o TTK, que dá nome ao “idioma” inventado nos anos 1960 para burlar a repressão da ditadura. “O trabalho da Rede Nami nunca foi algo que planejei. Fui vítima de violência doméstica, e comecei a fazer o trabalho para promover a Lei Maria da Penha, porque, na época em que aconteceu comigo, não existia a lei, então ninguém foi responsabilizado. Criei uma metodologia para usar o grafite como forma de fazer chegar às pessoas a informação sobre a lei e isso foi considerado bastante revolucionário na época. Acabei ganhando muitos prêmios internacionais, então, com toda a visibilidade que o projeto recebeu, acessei financiamentos e tive muita habilidade de trazer as pessoas pra junto. Resolvi formar a Rede Nami e trabalhar formalmente com isso, em vez de ser só um grupo de grafiteiras”, relembra Castro.
A instituição, formalizada em 2010, começa, portanto, nas oficinas de grafite organizadas por Panmela no Rio de Janeiro para difundir a Lei Maria da Penha entre mulheres mais vulneráveis à violência doméstica. “Em um determinado momento, eu simplesmente não tinha grafiteiras o suficiente para fazer as oficinas. Então comecei a fazer oficinas para formar novas grafiteiras. E é isso, aí depois você tem aquele monte de grafiteiras, mas as meninas precisavam trabalhar em outras coisas, porque o grafite não era uma profissão formal de que elas poderiam viver. Então, você vai profissionalizando, até que deu no Hackeando o Poder, resultado desses anos acumulando experiência de fomentar essa base para as mulheres trabalharem com arte.” Da época de pichação vêm também as frases que ela usa em algumas de suas obras, caso de Ostentar É Estar Viva (2021): “A gente ficava pensando nas frases que ia botar juntamente com a pichação pra chamar atenção na rua, que era o estrondo”. Utilizar o grafite como dispositivo para dar visibilidade a uma causa dá ensejo para tomar a arte como plataforma de luta, que Panmela desenvolve na sua trajetória mais institucional, poderíamos pensar. “Na verdade, eu já era artista. Cresci sendo designada a artista da casa, desde pequena. Eu sempre trabalhei com arte, com 17 anos eu já dava aula, o meu primeiro trabalho minha mãe vendeu quando eu tinha 12 anos. Participava das exposições do
bairro, fiz (a faculdade de) Belas Artes, só que o grafite acabou dando muita visibilidade para o meu trabalho, principalmente o ativismo, que me deu uma visibilidade internacional. Meu nome se projetou muito, mas por outro lado eu não pude me dedicar tanto ao trabalho autoral como artista, e só agora, depois que consegui estruturar a Rede Nami para seguir o trabalho com a equipe, sem necessidade de estar ali o dia todo, que pude pensar mais na carreira como artista”, responde ela, pondo abaixo a hipótese levantada.
TRÊS CICLOS
Em 2014, depois de outro caso de violência de gênero, dessa vez dentro do universo do grafite, em um evento da prefeitura do Rio de Janeiro, Panmela Castro fez um plano de ação de cinco anos para expandir o trabalho para além do grafite, focando na carreira institucional, que relata no primeiro capítulo de Hackeando o Poder O estudo teve apoio de um fellowship de uma fundação europeia e foi desenvolvido juntamente com um consultor. A artista divide em três ciclos o seu plano de carreira. “O primeiro ciclo foi fazer a ONG, estruturar e fazer ela funcionar. O segundo foi fazer a mesma coisa para consolidar minha carreira”, explica. O projeto de institucionalização tinha como meta conquistar a legitimação no circuito dos museus e das galerias. No Brasil?, pergunto, já que ela é conhecida mundialmente pelo ativismo em defesa das mulheres vítimas de violência doméstica, e como uma das grafiteiras mais relevantes dos anos 2000. “No Brasil eu tinha visibilidade, já tinha ido no Fantástico, meu trabalho repercutia muito na mídia. Mas percebi que todo o legado que tinha estruturado ia ser apagado justamente porque não tinha a inserção nos museus. Por isso me preocupei também com a carreira institucional, e também com a independência financeira. Porque, hoje, meu plano, que seria o terceiro ciclo, agora que já estruturei a minha carreira e a gente já lançou várias outras meninas (artistas como Priscila Rooxo, cria da Nami), é criar um fundo. Hoje, minhas obras estão valendo 100 mil reais, nessa faixa. Então, a ideia é fazer um fundo daqui até a minha morte, que espero não acontecer antes de o cometa Halley passar
75
FOTOS: JULIANA MONACHESI/SELECT_CELESTE; EDOUARD FRAIPONT/CORTESIA GALERIA LUISA STRINA (DUPLA ANTERIOR)
“A GENTE FICAVA PENSANDO NAS FRASES QUE IA BOTAR JUNTAMENTE COM A PICHAÇÃO PRA CHAMAR ATENÇÃO NA RUA, QUE ERA O ESTRONDO”
75
de novo, mas criar um fundo que mantenha a organização para continuar lidando com os problemas futuros.”
Em 2024, o Museu de Arte do Rio vai fazer uma exposição de Panmela Castro, com curadoria assinada por Marcelo Campos e Amanda Bonan, que são curadores do museu, e por Pablo León de la Barra, curador do Guggenheim.
“É engraçado falar de retrospectiva, porque eu tenho só 40 anos, mas a exposição apresenta um pouco dessa história”, diverte-se. Pergunto se pode ser considerada uma celebração dos dez anos militando na arte contemporânea.
“Acho que dez anos a partir do momento em que decidi ir para além do grafite, entrar oficialmente nesse circuito da arte, vamos dizer, com esse A maior, como se fosse mais importante do que as demais coisas, que a gente sabe que não é, mas as pessoas tratam como se fosse.”
Dez anos é um tempo breve quando se observa o alcance que sua pesquisa conquistou, com obras em acervos como os da Pinacoteca de São Paulo, MAR e Masp. Mas não é diferente da trajetória meteórica no grafite, nem dos projetos que Panmela inventou desde criança: “Sempre tive essa coisa empreendedora em mim. Quando era pequena, criei o Clube das Meninas na escola, no Segundo Grau eu fiz um jornal, que foi perseguido, censurado, porque, afinal, não se podia simplesmente fazer um jornal e distribuir suas ideias pros alunos, né? Na pichação, eu fiz um festival, o Xarpi Rap Festival, que tinha votação, melhores do ano, então eu sempre inventei coisas, tanto que com 16 anos comecei a trabalhar como professora de artes. Apresentava o projeto de curso extracurricular em escolas particulares e elas topavam”.
A propósito do Xarpi (pixar), voltemos ao TTK e à maneira muito particular como Panmela defende as suas crias. Pergunto se a predileção pelos retratos tem relação com a luta pelo empoderamento de mulheres pretas. Mais uma vez, levo uma invertida: “Eu tenho trabalhado com os temas clássicos, né? Eu tenho feito retrato, mas tem a série Saudades, que são obras de paisagens, de memória, de lugares de afeto, de flores. Esse lugar do clássico ou de
Retrato de Bernardine Evaristo (2022), obra de Panmela Castro que participou da exposição Mulherio, na Danielian Galeria, no Rio de Janeiro

busca pelo clássico é a ideia do ser aceita. Clássico é o que é aceito, é o padrão, apesar de, sendo quem sou, nunca vou ser o padrão. Porém, é uma forma de me sentir aceita, de transformar isso num padrão, quem eu sou e quem são esses meus amigos retratados, que não são necessariamente pessoas negras, mas são pessoas que convivem comigo e compartilham dessas ideias”. Fico me perguntando se a escolha pela talu (luta) das minas, que é o fio condutor de toda a trajetória profissional da artista, seria ainda a sua opção de vida, caso não tivesse uma história pessoal atrelada à violência doméstica. “A violência contra a mulher é um dos maiores problemas da sociedade, então a dedicação a esse tema acaba resolvendo vários outros que estão interligados, sabe? Quando avança o combate à violência doméstica, avança a educação, o problema da insegurança alimentar. Como motivação pessoal, tem muito mais que essa questão da violência, eu até costumo dizer que a minha força motriz vem dessa busca pelo afeto, porque acredito que essa busca por ser aceita, por estar nos espaços – como propõe o livro, de essas outras pessoas estarem dentro dos museus, dos espaços de poder, dentro da política, lugares que não ocupavam antes –, essa busca por afeto e aceitação é o momento em que acontece a violência, que é quando você é rejeitada, você é maltratada. Então, acho que a violência e essa ideia do amor, do afeto, do ser aceita, estão muito próximas.”
Panmela Castro comenta ainda que a atuação da ONG pode até parecer uma coisa distante do trabalho que faz como artista, autoral, mas é a mesma coisa. “O trabalho da Rede Nami é só mais prático, a gente vê o resultado efetivo com as pessoas. Mas é como um trabalho de arte também, nessa busca pelo afeto, e tratando dessa violência que acontece nesse percurso. É lógico que no grupo social de que faço parte, das mulheres negras, existe uma violência bem específica e muito forte com essa busca da aceitação, mas a busca pelo afeto e o desprezo pela situação de violência faz parte da vida de todos os seres humanos, só muda a intensidade.”
76 VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023
FOTO: CORTESIA DA ARTISTA E DANIELIAN GALERIA
76
"ESSE LUGAR DO CLÁSSICO OU DE BUSCA PELO CLÁSSICO É A IDEIA DO SER ACEITA; CLÁSSICO É O QUE É ACEITO, É O PADRÃO, APESAR DE, SENDO QUEM SOU, NUNCA VOU SER O PADRÃO"
VIRADA TESTEMUNHAL
79
PRECURSORA DE KNAUSGARD
E FERRANTE, ANNIE ERNAUX




É A ESCRITORA QUE MELHOR
MANIPULA A TRAJETÓRIA
DO NARRADOR EM PRIMEIRA
O MESMO NOME
PESSOA NA LITERATURA DOS SÉCULOS 20 E 21
LITERATURA
RICARDO LÍSIAS
Arte de Nina Lins, a partir de capas das edições brasileiras pela Editora Fósforo de obras de Annie Ernaux
QUANDO A FUNDAÇÃO NOBEL, NO ANO PASSADO, ATRIBUIU O PRÊMIO DE LITERATURA À ESCRITORA FRANCESA ANNIE ERNAUX, AS NOTÍCIAS MUITO NO GERAL INFORMARAM QUE SUA OBRA TINHA COMEÇADO A SER TRADUZIDA HÁ POUCO TEMPO NO BRASIL. Mais especificamente, a editora Três Estrelas teria nos apresentado Ernaux com Os Anos em 2019. Pouco tempo depois, a editora Fósforo anunciou a incorporação de seus livros, já que a primeira casa estava fechando. No Brasil, então, sobra para muitos a impressão de que Ernaux é uma autora de obra recente, tal como Karl Ove Knausgard, cujo primeiro livro de repercussão, A Morte do Pai, foi publicado em seu país de origem, a Noruega, em 2009, e, por aqui, seis anos depois; ou quem sabe Elena Ferrante, que faz sua assinatura circular desde 1991. Certamente Ove, Ernaux e Ferrante, embora respondam de forma diferente ao desafio de criar algo relevante em primeira pessoa, dividem algumas características. Além da relação com o leitor, tratase de literatura de exposição. Vou lidar com isso adiante. Ernaux, no entanto, estreou em 1974 com Les Armoires Vides (Os Armários Vazios, sem tradução para o português).

A escritora tinha 37 anos e toda noção do projeto que
pretendia desenvolver. Ela é, portanto, uma espécie de precursora de Ove e Ferrante e, indo mais além, trata-se do nome que melhor manipula a trajetória do narrador em primeira pessoa na literatura do século 20, cujo início inspirador está na obra de seu conterrâneo Marcel Proust.
Valeria a pena refletir sobre a enorme diferença de recepção de que foi objeto a obra de Ernaux entre nós. Se o lançamento de Os Anos foi celebrado em 2019, a ponto de muita gente achar que essa era sua estreia no Brasil, em 1992, quando Paixão Simples, sua chegada ao país, apareceu entre nós, a recepção foi bastante morna, para não dizer que, na verdade, houve uma recusa não só ao livro, como também a todo o projeto.
A questão não foi só com Ernaux. Em 1995, quando saiu no Brasil o belo Para o Amigo Que Não Me Salvou a Vida, de Hervé Guibert – que a editora Todavia promete relançar, em abril de 2023 –, a crítica de primeira hora recusou o livro. Houve, inclusive, quem o achasse uma invasão de privacidade e uma indiscrição com a vida de... Michel Foucault! Em uma resenha, Jurandir Freire Costa chega a evocar questões morais, ignorando absolutamente todas as premissas literárias do livro: “Fora disso, não vejo
OS LIVROS DE ERNAUX

ESTÃO CENTRADOS NA TENSÃO ENTRE LEITOR
E OBRA. DOS RECURSOS
QUE ELA MANIPULA, O PRINCIPAL É A CRIAÇÃO DE UMA PRIMEIRA
PESSOA EM TOM FUGIDIO E FORA DE PADRÃO
como a arte, a ciência, o conhecimento, o bom senso, a decência ou a felicidade de cada um podem se beneficiar dessa intrusão desrespeitosa e indelicada na privacidade de outrem. Em Guibert, como em tantos outros, vejo nisso violência, o que não lhe retira o mérito de bom escritor e de testemunha privilegiada de seu tempo”, afirma no texto, de título sintomático, As Agonias da Confissão, publicado na Folha de S.Paulo, em abril de 1995. Diga-se de passagem, que o filósofo francês jamais escondeu qualquer coisa sobre sua sexualidade. Sem dizer que defender Foucault é, no mínimo, uma enorme pretensão.
DISSOLUÇÃO DA FICCIONALIDADE
Em 1983, Ernaux publica seu primeiro sucesso, O Lugar. O livro já traz tudo o que compõe seu projeto literário e será aprofundado nas tantas obras seguintes: o choque entre uma obra esteticamente elaborada e um mundo de grande pobreza e violência; a localização historicamente muito bem definida, o feminismo como matriz política e base para todos os outros questionamentos sociais; e a observação de traumas de inúmeras ordens. Por fim, a assinatura da obra torna-se parte da própria narrativa, o que dá força para a dissolução dos gêneros e, mais ainda, da própria ficcionalidade, radicalizando o projeto inaugural de Proust. É possível perguntar-se se cada trabalho de Ernaux não desenvolveria essa e aquela questão proustiana. Em Busca do Tempo Perdido já tratava do confronto entre classes sociais, ainda que ali amainado pelo olhar enviesado do narrador. Para não ficar em uma extensa lista – que poderia ser feita –, a questão da opressão entre os gêneros aparece também em A Prisioneira e A Fugitiva. Didier Eribon, em A Sociedade como Veredicto, aprofunda-se nisso e propõe uma boa discussão sobre o caráter do narrador proustiano e as questões sociológicas que o livro apresenta. O Lugar inspirou inúmeros outros livros da literatura francesa contemporânea. Retorno a Reims, publicado pelo
próprio Eribon em 2009, por exemplo, descreve o contraste que o narrador, que tem o mesmo nome que o autor, sofre ao voltar ao local de origem, pobre e politicamente conservador, depois de ter vivido uma enorme ascensão social por meio da entrada no trabalho intelectual. Eribon não se preocupa tanto com questões estilísticas como Ernaux. Tentarei ser direto: enquanto ela é uma grande escritora, ele escreve do lugar de sociólogo, o que os diferencia em algo importante. O Lugar cria um universo próprio, em que as relações estão todas particularizadas pela linguagem crua e pela narradora intrusiva e sem necessidade de compreensão para além de seu próprio espaço; Retorno a Reims por outro lado, parte do lugar social do narrador para observar questões de ordem política. O seguinte trecho, ainda que afinado com discussões conhecidas e antigas no Brasil, marcoume bastante: “Parece-me sobretudo incontestável que essa ausência do sentimento de pertencimento a uma classe caracteriza infâncias burguesas. Os dominantes não percebem que estão inscritos em um momento particular, situado (da mesma maneira que um branco não tem consciência de ser branco, um heterossexual de ser heterossexual)”.
DESIDENTIFICAÇÃO SOCIAL
O meu momento preferido desse grande livro, porém, é o seguinte: “Meu marxismo de juventude constituía, portanto, para mim, o vetor de uma desidentificação social: exaltar a ‘classe operária’ para melhor me afastar dos operários reais. Lendo Marx e Trotsky, eu acreditava estar na vanguarda do povo. Só que eu entrava mais no mundo dos privilegiados, na sua temporalidade, no seu modo de subjetivação: os que leem Marx e Trotsky por lazer.”
À descrição do pequenino comércio da família, que se entrelaça à vida operária e a uma vizinhança sem perspectivas em O Lugar Ernaux acrescenta, quatro anos depois, A Vergonha. Agora ela descreve a agressão física que seu pai impôs à mãe, quando a narradora, que como sempre tem
82 VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023
FOTOS: CATHERINE HÈLIE / CORTESIA GALLIMARD (RETRATO ANNIE ERNAUX); E DIVULGAÇÃO
FOTO: CORTESIA DO ARTISTA
Annie Ernaux, a primeira escritora francesa mulher a receber o Nobel de Literatura, após 15 conterrâneos serem laureados
o nome da autora, era adolescente. Bastante violento no início, o andamento da narrativa insere o incidente dentro de um amplo contexto de brutalidade, em que a pobreza corrói todas as relações, tornando a vida um acúmulo de vexames. O trecho a seguir é notável: “Toda a nossa existência se tornou sinal de vergonha. O mictório que ficava no pátio, o quarto compartilhado – no qual eu dormia com os meus pais, seguindo um hábito comum em nosso meio, devido à falta de espaço –, os tapas e palavrões da minha mãe, os clientes bêbados e as famílias que compravam fiado. O conhecimento detalhado que eu tinha dos graus de bebedeira e dos fins de mês à base de carne enlatada marcou, por si só, meu pertencimento a um estrato pelo qual a escola particular só manifestava ignorância e desprezo. Era normal sentir vergonha, como se fosse uma consequência inscrita na profissão dos meus pais, nas dificuldades financeiras que eles tinham, em seu passado como operários, em nossa forma de viver. Na cena daquele domingo de junho. A vergonha tornou-se para mim um modo de vida. No fim das contas, já nem percebia sua presença, ela estava em meu próprio corpo”.

UMA GOTA DE FICÇÃO EM UM MAR DE NÃO FICÇÃO
Outro leitor exemplar de Ernaux é Edouard Louis, que já teve dois de seus ótimos romances publicados por aqui. Em O Fim de Eddy (2014), justamente, o interior francês é descrito a partir da brutalidade dos personagens, pobres tanto do ponto de vista material (são operários que sofrem cada vez mais com a desvalorização do trabalho fabril ou pequenos proprietários despidos de qualquer apoio) quanto do cultural, já que vivem sem nenhuma perspectiva. Com outra visada, Michel Houellebecq descreve esse mesmo espaço em Serotonina (2019), quando o
narrador acompanha uma revolta de pequenos proprietários, que termina em morte, aliás. No ano 2000, como se quisesse abrir o novo milênio de forma marcante, Ernaux publica O Acontecimento. Como em todos os livros que estou apresentando, aqui também a narradora tem o mesmo nome da autora. Sempre que pode, a escritora afirma tratar-se de uma experiência que ela própria viveu. Ainda assim, nada autoriza a conclusão de que não estamos lidando com ficção: não há outros nomes e diversos detalhes ficam em uma zona de sombra, o que deixa para o leitor a responsabilidade de decidir quais categorias pretende operar. Dizendo de outro jeito: manejando recursos que a ficção lhe oferece, mas colocando-os todos sob suspeita, a autora passa para o leitor a responsabilidade de decidir se esse ou aquele trecho é ou não fictício. Aqui, vale lembrar a célebre e certeira afirmação de Ricardo Piglia, uma gota de ficção em um mar de não ficção torna tudo ficção. Ainda no início do seu curso de graduação em Letras a narradora interrompe uma gravidez indesejada. O Acontecimento mostra não apenas o isolamento da mulher em situação vulnerável, como os acordos sociais que a transformam em uma espécie de pária. É como se o mundo inteiro se organizasse para puni-la, começando por tratá-la como um ser humano da pior espécie.
A propósito, no momento em que escrevo, começa a circular a notícia de que no estado do Piauí uma juíza está impedindo a interrupção da gravidez de uma menina de 12 anos, estuprada e depois recolhida a um abrigo. Como se não bastasse, a magistrada nomeou uma advogada para o feto. A nomeação está prevista no bizarro Estatuto do Nascituro, projeto de lei que, no entanto, não foi aprovado. Em resumo, para piorar a situação das mulheres em condição de grave vulnerabilidade, a Justiça prefere não cumprir a... lei!
O NOME
O trecho a seguir é ilustrativo do livro de 2000: “Na sala de cirurgia, fiquei nua, com as pernas levantadas e presas aos suportes por uma correia, sob uma luz violeta. Eu não entendia por que precisava ser operada, se não havia mais nada a ser retirado do meu ventre. Implorei ao jovem cirurgião para me dizer o que ele ia fazer. Ele se posicionou de frente para minhas coxas abertas, gritando: ‘Eu não sou o
encanador!’ Foram as últimas palavras que escutei antes da anestesia (‘Eu não sou encanador!’ Essa frase, como todas as que marcam esse acontecimento, frases muito ordinárias, proferidas por pessoas que falavam sem refletir, ainda repercute em mim. Nem a repetição nem um comentário sociopolítico podem atenuar a violência: eu não ‘esperava’ por isso. De modo fugaz, creio ver um homem de branco, com luvas de borracha, que me enche de pancadas gritando ‘Eu não sou o encanador!’ E essa frase, inspirada talvez por um esquete de Fernand Raynaud que fazia a França inteira rir, continua a hierarquizar o mundo em mim, a separar, como que a golpes de cassetete, médicos de operários e de mulheres que abortam, os dominantes dos dominados.)”. Toda a solidariedade que a narradora recebe vem das franjas da sociedade, em que espaços quase secretos fazem esforço para não apenas reconhecer o grau enorme de machismo que massacra a narradora, como para encontrar formas de circulá-lo. É nesse momento, a propósito, que Ernaux expõe uma questão importante para a literatura em primeira pessoa: o nome.
Como o texto está sendo redigido e publicado com uma
alegada diferença de tempo entre quando o acontecimento se deu e sua narrativa, a narradora descreve uma busca para encontrar uma mulher que a ajudara em um momento de grande abandono. E de fato a localiza. A razão para não lhe agradecer nominalmente está no arcabouço machista que cerca a interrupção voluntária da gravidez: “Me limito a empregar as iniciais para designar essa que vejo agora como a primeira das mulheres que me apoiaram, essas guias que com conhecimento, gestos e decisões eficazes me fizeram atravessar, da melhor maneira, essa provação. Queria escrever aqui seu sobrenome e seu belo nome cheio de simbologia dado por pais refugiados da Espanha franquista. Mas a razão que me inclina a fazer isso – a existência real de L. B., cujo valor seria revelado aos olhos de todos – é a mesma que me impede. Não tenho o direito, pelo exercício de um poder não recíproco, de expor, no espaço público de um livro, L. B., uma mulher real, viva – como a lista telefônica acaba de me confirmar –, que poderia retrucar com toda razão que ela ‘não me pediu nada’”.
85
FOTOS: DIVULGAÇÃO
Karl Ove Knausgard, um dos principais leitores da obra de Annie Ernaux, diz, no volume final da saga Minha Luta, que
VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023
Arte de Nina Lins sobre a fotografia de capa da obra Os Anos (2008), de Annie Ernaux
“o nome mantém relações estreitas com tudo que há de secreto e de próprio, sim, o nome é parte tão integral da própria identidade que as pessoas imaginam que o nome é delas, embora não seja dado com esse objetivo aparente, já que as pessoas não precisam nomear a si próprias, mas sim para representar o que aquela pessoa é em relação aos outros”. A supressão do nome, portanto, afasta a personagem do universo da autora, ainda que ela esteja sempre colada à narradora. Com isso, mesmo que tenham o nome igual, autora e narradora acabam se distanciando, o que aproxima o texto da ficção, embora isso não esteja absolutamente claro. Assim tem operado a melhor literatura (e talvez a principal arte) dos últimos anos.
Mais importante do que discutir questões como verdade ou invenção (o que determinaria a existência de L. B. para além do livro) é notar que o recurso também garante a Ernaux um forte protesto político, centro de sua obra: a violência contra as mulheres é tão grande que exige apagamentos até mesmo em trabalhos artísticos – que, por sua própria natureza, são indeterminados. A arte, a princípio, permite muito mais liberdade que outros discursos, não porque “pode tudo” (ela, como qualquer coisa, é limitada por seus próprios recursos), e sim porque permite sentidos múltiplos para seus objetos. A escritora, porém, é objetiva: a violência contra o gênero feminino é ainda maior que a amplitude do alcance artístico!
EFEITO POLÍTICO DO RECURSO ESTÉTICO
Em 2008, Ernaux publica, por fim, aquele que é seu grande livro: Os Anos. Aqui, tudo o que nos trabalhos anteriores talvez estivesse fragmentado ou exposto com intensidade variável junta-se para produzir um estranhamento notável entre todo tipo de fato histórico e a recepção pela narradora, que os descreve em tom ágil e ao mesmo tempo melancólico:

“Os jovens do mundo inteiro bradavam suas novidades com violência. Na Guerra do Vietnã, viam motivos para se rebelar e, nas Cem Flores de Mao, para sonhar. Despertavam para uma alegria plena, que os Beatles representavam perfeitamente. Só de ouvir sua música, dava vontade de ser feliz. (...) Deixavam a Argélia de lado, estavam cansados de tanta guerra, olhavam com mal-estar para os tanques israelitas esmagando os soldados de Nasser, desorientados com a volta de um assunto que parecia resolvido, e com a transformação das vítimas em vencedores”.
Muitas vezes o texto mostra o desarranjo entre um evento em larga escala e a expectativa dos indivíduos, que termina então sem ser atendida. De novo, como no exemplo anterior, há um efeito político causado pelo recurso estético: por maior que seja o alcance da narrativa, e ele é bem grande, nada ultrapassa o efeito de políticas prontamente elitistas. Ao feminismo acrescenta-se no trabalho de Ernaux um forte componente de esquerda. Nas últimas eleições francesas, por exemplo, a escritora apoiou o candidato Jean-Luc Mélenchon. Em outubro do ano passado, Ernaux foi um dos principais nomes da marcha que protestou contra a política de arrocho de Emmanuel Macron, de quem é forte crítica.
Há aqui, porém, um detalhe que torna a narrativa de Os Anos mais complexa: não estamos diante de nenhum encadeamento de derrotas. É verdade que, quando o político progressista por fim chega ao poder, há um certo tipo de esperança: “Mesmo vendo surgir na tela da tevê o estranho rosto pontilhado de François Mitterrand, ainda não acreditávamos. Então, percebemos que toda a nossa vida adulta tinha passado sob governos que não nos diziam nada, 23 anos que pareciam, com exceção de um mês de maio, uma torrente sem esperança, cujos momentos de felicidade não vinham da política. Havia um sentimento de rancor que era
como se alguma coisa tivesse sido roubada da nossa juventude. Depois de todo esse tempo, em uma noite nebulosa de um domingo de maio que apagava o fracasso do outro, nos reconciliávamos com a História”.
Em apenas uma página, a decepção surge: “Mitterrand não falava mais das ‘pessoas de esquerda’. As pessoas também já não gostavam mais tanto dele. Ele não era uma Thatcher, que tinha deixado Bobby Sands morrer e tinha mandado soldados para serem mortos nas Malvinas, mas dia 10 de maio tornou-se uma lembrança incômoda, quase ridícula. As nacionalizações, os aumentos de salário, a redução do tempo de trabalho, tudo o que tínhamos achado que fora feito pela justiça e pelo advento de outra sociedade nos parecia agora apenas uma grande festa de comemoração da Frente Popular, de culto aos ideais escondidos em que talvez nem mesmo os adeptos acreditassem. A mudança esperada não ocorreu. Outra vez, o Estado afastava-se de nós”. No entanto, a construção é toda organizada pela narradora, que enxerga o deslindamento histórico em uma posição de controle: até mesmo a melancólica decepção encontra-se sob seu comando, já que desejou destacá-la. Trata-se, portanto, de inserção em um espaço político: é desse lugar que eu falo, a narradora parece insistir.
86 87 VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023
A FUNÇÃO DO LEITOR
Como a narrativa está o tempo inteiro sob a condução da narradora, muitas vezes o tom ultrapassa o meramente narrativo para chegar, inclusive, à disposição pelo confronto. Quem lê precisa passar em revista o juízo da narradora. Por isso, esse tipo de obra causa bastante mal-estar. O leitor é sempre levado a opinar, precisa fazer julgamentos e, no final das contas, tomar partido, o que para muitos é mais do que incômodo: exige movimento e reflexão. Muita gente acaba sendo obrigada a revelar, até para si mesma, opções desconhecidas, espaços incômodos e pontos de vista inesperados. É isso que chamo de literatura de exposição. Para solucionar tantos conflitos, muitas vezes os leitores optam pela acomodação e buscam rapidamente um sentido que, mesmo incômodo, é aceitável pela moral mediana. Ernaux produz muito esse tipo de coisa. Foi esse o caso de boa parte da recepção brasileira de O Jovem, traduzido por aqui ainda no ano passado, poucos meses depois do lançamento do texto original.
No Brasil, as leituras iniciais preferiram não enxergar a natureza da relação que a narradora criou com o rapaz, bastante clara no livro: “Muitas vezes fiz amor para me obrigar a escrever. Queria encontrar, na sensação de cansaço e desamparo de depois, motivos para não esperar mais nada da vida. Nutria a esperança de que, ao fim da espera mais violenta de todas, a de um orgasmo, eu pudesse ter certeza de que não havia orgasmo mais intenso que a escrita de um livro. Talvez tenha sido o desejo de desencadear o processo de escrita de um livro – o que eu hesitava em fazer por conta de sua dimensão – que me levou a convidar A. para tomar uma taça de vinho na minha casa, depois de termos jantado num restaurante onde ele permanecera, por timidez, praticamente o tempo todo mudo. Ele tinha quase 30 anos a menos que eu”.
Para que não restem dúvidas, cito outro trecho, sublinhando a palavra que resume a natureza da relação: “Nosso relacionamento podia ser encarado pelo ponto de vista da conveniência. Ele me proporcionava prazer e me fazia reviver coisas que eu nunca teria imaginado poder reviver. Que eu lhe oferecesse viagens, que o poupasse de buscar um emprego que o deixaria menos disponível para mim, parecia-me um acordo justo, um bom negócio, sobretudo porque era eu quem estabelecia as regras”.
A EXPOSIÇÃO DO LEITOR
Enfim, tudo não passou de um trato em que a narradora, atrás de prazer sexual para escrever, escolheu um rapaz para isso e lhe deu em troca alguns favores materiais. Entre nós, porém, as críticas retiraram esse caráter de acordo de mútua exploração para relegar tudo a um inexistente amor. A manchete do jornal Folha de S.Paulo resume bem o que estou falando: “Quando Ernaux amou um jovem 30 anos mais novo”.
Toda interpretação, obviamente, revela quem a está criando.
O tipo de texto que Ernaux pratica, no entanto, potencializa esse efeito, justamente porque deixa o leitor em um lugar incômodo ao exigir que ele, se quiser continuar com a leitura, acabe se expondo. Nesse caso, como os sentidos foram no geral muito parecidos, revelou-se a moral de uma sociedade.
No Brasil, uma mulher não pode usar um homem para obter prazer sexual: ela tem de se apaixonar. Não preciso ir longe para mostrar a origem machista dessa interpretação. O engenho da escritora serve para escancará-la.
Os livros de Annie Ernaux estão centrados na tensão entre leitor e obra, justamente no momento crítico da constituição do sentido. Entre os inúmeros recursos que ela manipula, o principal deve ser a criação de uma primeira pessoa em tom provocativo, fugidio e fora de qualquer padrão. Resta ao leitor aceitar o movimento e constituir um sentido, mesmo que isso lhe cause mal-estar.
A propósito, se for para achar um termo que sintetize o projeto literário de Ernaux, deve ser justamente esse: “Trânsito”, obviamente com tudo o que ele engloba, das longas distâncias à exaustão, da pavimentação dos espaços à possibilidade de retorno. Seus livros fazem movimentos amplos, que vão da narrativa à sociedade, passando pela política, pela denúncia, pela memória, pela etnografia e, em outro caminho, pelo ensimesmamento, pelo eu inflado e transbordante, e pela criação de identidade. Não é pouco e tudo junto forma, sem dúvida, uma das obras artísticas mais notáveis do nosso tempo.

88 89 VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023
TERRITÓRIOS
COMO DIZEM, SÃO PRIVILÉGIOS
TODO HOLOFOTE FAZ SUAS
SOMBRAS, ENTÃO QUAL A OUTRA
FACE DO SUCESSO DO ARTISTAESTRELA QUE É EXCEÇÃO? OUTRO
PONTO DE VISTA DAS PAISAGENS
METROPOLITANAS SUSSURRA UMA
LEITURA POSSÍVEL
À esq., fragmento da obra Sem T ítulo (2021), de Bruno Alves; fragmentos das pinturas Cassiano (2022), da série Até Aqui, Tudo Bem, e 6092-10 (2022), de Lucas Almeida


 ELOISA ALMEIDA
ELOISA ALMEIDA
NA AGENDA DITA PROGRESSISTA DAQUELES QUE ESCOLHERAM A DEMOCRACIA HÁ CERTO TEMPO, AS DISCUSSÕES SOBRE CENTRO E PERIFERIA TÊM GANHADO MAIS ESPAÇO E INTERESSE NOS ÚLTIMOS DEZ ANOS. Aqui, no Brasil, arrisco dizer que só agora o problema tem adquirido alguma merecida seriedade no circuito já estabelecido das artes. Um circuito estabelecido, aos trancos e barrancos, nos centros econômicos do Sudeste do país – São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Para um breve panorama histórico da atual situação da arte institucionalizada no Brasil voltamos à chegada dos aparatos reais da corte portuguesa na sua então colônia, no início do século 19. Daí a criação da Academia Imperial de Belas Artes, atual Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Mais tarde, uma república coordenada por monopólios agrários das elites do café com leite requer cidades tão interessantes quanto Paris, afinal nada se via de progresso nos pastos que abasteciam a gordura europeia. E constroem a Pinacoteca do Estado e o Theatro Municipal. É onde o dinheiro circula. As transformações políticas que vieram adiante confirmam o que sabemos intuitivamente: são cidades projetadas pelas elites e para as elites.
Hoje, mais de um século depois do aparelhamento institucional dessas cidades, vivemos outras cidades. Mas os resquícios de suas origens permanecem. Apesar de as três capitais concentrarem a maior quantidade de museus e equipamentos culturais do Brasil, vemos com nitidez a estratificação do direito constitucional de acesso à Cultura. Em pesquisa pelo SIIC (Sistema de Informações e Indicadores Culturais do IBGE), realizado ao longo de dez anos no território brasileiro (2008-2018), 32,2% das pessoas não possuíam acesso a museus em suas cidades; desse total, 37,5% corresponde à população preta ou parda, em comparação a 25,4% de brancos na mesma condição. Considerando a porcentagem e o número total da população no Brasil em 2018, estipula-se que 78.562.500 pessoas pretas e pardas não puderam visitar um museu na cidade em que moram no intervalo de uma década. Olhando para a capital paulista – que não precisa de números para a certeza de que é a mais equipada em instituições culturais no Brasil –, na pesquisa do Ibope de 2019 “Viver em São Paulo: Cultura na Cidade“, a desigualdade dos números continua, ou seja, 28% das pessoas entrevistadas não tinham frequentado nenhuma atividade cultural nos últimos 12 meses. Ou melhor (ou pior), aproximadamente, 3.430.566 indivíduos, em sua maior parte com

92
VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023 FOTOS: LUCAS CUNHA/ CORTESIA DOS ARTISTAS
Sem T ítulo (2021), de Bruno Alves
 O Azul do Céu Uns 10 Minutos Antes de Escurecer É Bonito (2022), de Lucas Almeida
O Azul do Céu Uns 10 Minutos Antes de Escurecer É Bonito (2022), de Lucas Almeida
renda familiar de até dois salários mínimos e autodeclaradas pretas ou pardas nunca foram ao Masp, por exemplo.
O VERSO
Passando rápidos segundos nos stories do Instagram vi, há algum tempo, a imagem de uma pintura inundada de vermelhos densos. Aquilo gerou incômodo e, ao mesmo tempo, sedução. Olhando com cuidado, Birinepe (2019), do artista paulistano Bruno Alves, era um emaranhado de camadas do que pode ser uma esquina ou um beco, com um carro estacionado e o que aparenta ser o motorista daquele sedã quatro portas parado ao lado, nas sombras. Misturado entre o preto e o vermelho que constroem a pintura, há signos conhecidos de toda pessoa que mora a mais de uma hora de distância do centro de uma capital: as placas de trânsito amontoadas, o aviso de venda de produtos de limpeza caseiros, fios e janelas sobrepostos. Entrando no perfil que publicou a imagem, soube de O Verso Coletivo, formado por Alves e Lucas Almeida, moradores de Cidade Júlia e Jardim das Pedras, localizados no extremo sul de São Paulo. Os dois estudaram juntos no curso de Artes Visuais do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU), uma conhecida universidade particular de São Paulo. Bruno com bolsa integral pelo ProUni e Lucas com bolsa parcial e que custeava a mensalidade trabalhando em paralelo aos estudos. Desde então, juntos, têm concentrado esforços para continuar a fazer pintura e sustentar a vida com o próprio trabalho. Acompanho desde 2019, a distância, seus trabalhos, em sua maioria pinturas e colagens que evocam a paisagem dos seus arredores e trânsitos.

No livro A Urbanização Brasileira, do geógrafo Milton Santos, em que o autor examina o processo tardio de urbanização no país, lemos que, “entre 1970 e 1980, a Região Metropolitana de São Paulo acolheu 3.351.600 imigrantes. Ao mesmo passo, o processo culmina na “concentração da população e da pobreza” e na “maior centralização da irradiação ideológica”. A paisagem, nesse caso, para Santos, é o resultado superficial dos processos sociais e econômicos, e se define como “tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão alcança”. As aspas são retiradas do livro Metamorfoses do Espaço Habitado, em que Santos considera, rapidamente, a relação entre a paisagem e o trabalho artístico, e afirma que a tarefa da sociedade é ultrapassar a paisagem como aspecto, para chegar ao seu significado.
Na sexta-feira pré-Carnaval, à beira do que existe hoje de mais radical na experiência coletiva em São Paulo, conversei com Bruno e Lucas no ateliê de Alves, que fica próximo ao Anhangabaú, Centro velho de São Paulo. Meu texto deve seguir o ritmo da conversa, que foi amigável, mas deixou um gosto amargo na boca. “Toda a minha família veio das metalúrgicas, meus tios trabalham com
isso. Fiz curso técnico no Senai e até trabalhei um tempo em firma, mas vi que não era pra mim. Entrei na tatuagem e descobri depois que arte poderia ser um caminho possível”, diz Lucas, quando pergunto sobre como ele imaginou que seria viável cursar artes visuais e isso tornar-se trabalho. Há um ano, tanto Lucas quanto Bruno trabalham junto a uma pequena equipe fixa no ateliê do assume vivid astro focus (avaf), projeto fundado por Eli Sudbrack e intercalado com o artista francês Christophe HamaidePierson, com interface a outros coletivos, como o projeto Travessias, no Galpão Bela Maré, no Rio. Os dois artistas concordam que o trabalho no ateliê de Sudbrack também é um aprendizado sobre arte e como ela opera nos centros urbanos, fruto não só do contato direto com o artista, com carreira já consolidada, mas com os colegas que dividem as tarefas diárias do avaf: "Foi a primeira vez que conseguimos acompanhar a prática de um artista tão de perto (...) e entender outros lugares da pintura", diz Bruno.
SALTO NO ABISMO
Temos observado cada vez mais projetos de instituições nas capitais sudestinas focados em artistas e agentes artísticos fora do eixo de conforto socioeconômico que baliza as artes plásticas no Brasil. Mas quais mudanças estruturais efetivas têm acontecido? Quem tem acompanhado esses processos? Para onde a bússola do progresso aponta? Conversando com os meninos, há comentários que tangenciam essas questões. Entre falas sobre a experiência de deslocamento urbano para o trabalho e o estudo, sobre os compromissos de ambos os lados da moeda (de onde eles vêm e onde eles se inserem, no jogo do circuito), do dinheiro contado, da organização do próprio tempo. “Os artistas que estudamos hoje saíram dos mesmos lugares, se parar pra pensar”, comentei com Bruno e Lucas, mencionando alguns conhecidos das aulas de história da arte, inclusive os mais velhos, de séculos atrás. O turbilhão concentrador de dinheiro e forma de viver, que não seja trabalhando com qualquer outra coisa condicionada às classes mais baixas, e ainda assim ter pessoas com tempo criativo é como um farol. Quando pergunto para eles sobre os retornos práticos e os trânsitos, Bruno responde: “Temos vontade de fazer um monte de coisas. Mas as outras coisas da vida atravessam, a própria realidade que vim (...) A vida não é só a nossa pintura, é várias outras coisas. E uma interfere na outra e é o que forma nosso trabalho”.
SUCESSO E DESFRUTE
Lembramos de Lorenzato e sua triste trajetória, que hoje é coroada com os louros milionários do mercado internacional de arte e que morreu na miséria aos mais de 90 anos de idade. Pensamos alto, juntos, sobre como
96 VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023
FOTO: LUCAS CUNHA/ CORTESIA DO ARTISTA


98 99
é recente a referência de alguém jovem com outra origem social, que não é abastada, obtendo sucesso financeiro do próprio trabalho plástico. E a única referência, que lembro de pronto, é o artista carioca Maxwell Alexandre, o qual, mais que ninguém, tem hoje repercussão além do nicho. "A visibilidade não paga contas, mas pode pagar, e isso é um lance de sorte. A hora certa, na hora certa, com as pessoas certas e é bonito ver as histórias de quem vinga, mas esse é um terreno inseguro e inconstante" comento ao falarmos sobre a profissionalização do trabalho artístico. Afinal, é só após a ampliação do acesso à universidade e a política recente de fomento aos aparelhos culturais pelo Estado que notamos mudanças no cenário artístico brasileiro. Logo, o processo de um artista, ou outro profissional, que venha a trabalhar com artes com essa base de pano de fundo também ocorre de outra forma do que foi combinado como padrão. “O gerenciamento de dinheiro é complexo. Não dá pra investir tudo de volta no próprio trabalho, como é esperado, e vemos o que outros artistas fazem, precisa pesar os gastos a todo momento”, diz Bruno, complementado por Lucas: “Também gerenciar o tempo. Que se divide entre os trabalhos que pagam as contas e o ateliê. É preciso ser direto, não tem muito tempo pra perder”. Com bom humor para encarar o absurdo, é assim que os dois artistas contam como têm seguido até aqui. Bruno afirma que chegaram no circuito em um momento em que o nicho da arte desejava artistas jovens e concluíram que o trabalho tem autonomia de circular sem o controle da dupla. “Vamos arriscando”, continua Bruno. Não temos muito a perder, respondo. A frase ecoa. Me lembro dos colegas de sala durante o Ensino Fundamental II, em uma escola estadual próxima ao lugar em que ainda moro, nas imediações do Jardim São Luís, que iam pra briga com sangue nos olhos, sem nada a perder. Ou sair de uma cidade pequena e sem qualquer tipo de direito básico assegurado e vir pra maior cidade da América Latina, sem nada a perder. Antes isso do que nada.
“Existem coisas que te colocam à frente, como artista: ter pai e mãe, ter uma renda que seja maior que um salário mínimo, uma família que valoriza arte, a cor da sua pele”, continua Bruno, ressaltando que a responsabilidade é dupla para artistas que vêm de zonas periféricas. “Acabo voltando para o lugar de onde vim. E o embate é grande. E tudo te força a vir para o Centro, quando se trabalha no circuito, passando todos os perrengues com transporte. São dois polos: o lugar de onde viemos e onde chegamos.”


CIRCULAÇÃO
Historicamente, a pintura é mais valorizada que a gravura. A exclusividade e a unicidade, indissociáveis da própria técnica, alimentam a aura que irradia seu consumo e sua valorização contínua, desde a virada moderna. Mas a pintura, que teve suas imagens difundidas nas gravuras do século 19 e circula
101
À esq., Good Kid m.A.A.d City (2021); abaixo, Vulto 17 (2022), de Lucas Almeida
hoje nos livros didáticos, também é autônoma, como Bruno afirma sobre seu próprio trabalho. Quando vira imagem, a pintura vira outra coisa. Com as redes sociais, em especial o Instagram, propriedade da empresa Meta, do bilionário estadunidense Mark Zuckerberg, a imagem é mediada mais uma vez, mas isso é assunto para outro momento. Olhamos, timidamente, de São Paulo, do Rio de Janeiro e, arrisco dizer, de Belo Horizonte, querendo aprender com as outras regiões para assimilar outras formas possíveis de lidar com a arte. A dupla de artistas circula também em espaços de iniciativas da periferia e integram o time curado pelo artista André Vargas na exposição que inaugura a galeria Nonada, com sede em Copacabana e na Penha, bairros da capital fluminense, focada em artistas das periferias brasileiras. “Sempre teve essa discussão de tornar o trabalho acessível. Nos coletivos da Zona Leste de que participamos, por exemplo, que reunia a galera do slam e tudo o mais... há diferentes responsabilidades que surgem nos espaços da quebrada”, diz Bruno, assumindo o desejo de ampliar seu repertório e entender outras formas de circulação da pintura. “Mas é inevitável, algo sempre nos puxa de volta e isso deve fazer algum sentido”, conclui.

ONDE HABITAM AS REFERÊNCIAS NÃO ACADÊMICAS
Em uma cadeira de plástico pintada em um saco de carvão da marca São José está repousando uma figura, de pernas cruzadas. A pintura de uma pessoa negra segue a paleta de cor da embalagem. O trabalho de Lucas Almeida, exposto na coletiva A Palavra, no espaço Nonada, é um bom ponto de partida para o entendimento de sua poética. As constantes referências à pintura manual das placas comerciais, penduradas nos muros de casas; as portas de comércio aerografadas e a paisagem caótica e hostil para quem não vive nela formam um imaginário visual profundo e genuíno. Sobre essas referências visuais Lucas relembra a fala de Kerry James

Marshall, no documentário Arte Negra: Na Ausência da Luz: "Na história da pintura que conhecemos não encontramos muitas imagens de negros nas obras. Não vemos imagens de negros pintando, no fim do século 19 e início do 20. A ideia de que a representação era um artefato inútil de ideias antiquadas sobre o que significava fazer arte meio que se estabeleceu e começaram a achar que a pintura abstrata era uma pintura mais avançada do que a representativa". Continuamos a conversa a partir da percepção de que as narrativas pessoais têm vindo cada vez mais à tona. E sobre como ainda é ausente a sistematização do conhecimento (conceitual e material) que advém das camadas mais exploradas. E como isso implica diretamente o poder que pode ser e que, de fato, é exercido. Concordamos que outras referências precisam existir: “Ouvir uma música dos Racionais, às vezes na casa do vizinho, ver um filme na tevê. De repente, forma um artista mais pra frente, que vem de um lugar antes não conhecido (por quem sempre fez parte do circuito artístico hegemônico)”, disse Bruno. Lucas complementa e afirma que “a produção de conhecimento na periferia é gigantesca e é diferente da produção centralizada”. Bruno soma: “Parto de um repertório urbano compartilhado por quem está nesses lugares. E o que faço é um registro disso”. Lucas encerra o tópico, lembrando que a falta também está no acesso aos materiais e daí a necessidade de pintar em suportes como papelão, tecidos de colchas e panos de prato usados pela família.
HORIZONTE
No momento, o farol aponta uma direção turva, mas que é uma possibilidade. “As aberturas de caminho são feitas também pela ajuda de outras pessoas, que acompanham e reconhecem nosso trabalho, e que nem sempre têm um recurso tão grande”, diz Bruno. Lucas complementa: “O primeiro cara que comprou meu trabalho foi o André Vargas”, diz Lucas quando pergunto aos dois sobre quem compra suas pinturas. “Foi algo muito importante.” Concordo com ele, dada a diversificação tardia dos artistas e gestores de espaços da arte. O frenesi continua, então sobra pouco terreno para criar estratégias para capilarizar o olhar, e, por consequência, o dinheiro. Afinal, projetos, artistas, colecionadores e revistas ainda são feitos com dinheiro. Vale lembrar que o observador não é neutro. Ainda mais nas capitais da região que concentra a maior renda do país, onde os lugares de trânsito de classes nos mostram um contraste visual de cor e poder aquisitivo. Uma proposta de arte verdadeiramente comprometida com o coletivo deixaria de pensar sua própria estrutura? Ou é um projeto tão neoliberal quanto outros tantos em curso? Que daqui pra frente, após a virada democrática, pensemos nas respostas possíveis.
102 VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023
FOTOS: CORTESIA DO ARTISTA
Birinepe (2019), de Bruno Alves; à esq., Sem Título (2022), de Lucas Almeida
ARTE EM PRIMEIRA PESSOA
ALINE MOTTA, VULCANICA
POKAROPA, TADÁSKIA, LARISSA DE SOUZA E ÉLLE

DE BERNARDINI: CINCO
PESQUISAS ARTÍSTICAS
INSERIDAS EM UM
CONTEXTO TESTEMUNHAL
REPORTAGEM
JULIANA MONACHESI E LUANA ROSIELLO
“OYINBO. OYINBO… OYINBO SOU EU. BRANCA. BRANCA NA NIGÉRIA, NEGRA NO BRASIL. EU OS RECONHEÇO, ELES NÃO ME RECONHECEM. Eu me vejo neles, eles não se veem em mim. Talvez eles não saibam que ninguém ficou mais branco no Brasil por amor.” Este é o início da narrativa da obra Se o Mar Tivesse Varandas (2017), de Aline Motta, videoinstalação exposta até recentemente na Sala de Vídeo do Masp. O espectador não vê a narradora. Nessa cena, a câmera registra, da outra ponta de um barco, uma senhora nigeriana que rema se afastando da costa. “Eles” são meninos negros que cercam a embarcação e sorriem para a mulher “oyinbo” que filma o evento. Os vídeos da artista são em primeira pessoa – tanto na narração quanto no ponto de vista da câmera. Esse enquadramento subjetivo é a marca da produção de uma geração de artistas que se destaca em anos recentes na arte brasileira. Sobre essa nova geração, Márcio Seligmann-Silva afirma que o recurso à memória e ao testemunho carrega um forte potencial de revisionismo histórico, porque os artistas constroem um novo espaço de imagem, ao mesmo tempo que desconstroem “máquinas coloniais” – como o “próprio maquinário da estética que tem servido para formatar subjetividades na modernidade” ao produzir hierarquias eurocentradas que relegam os habitantes do Sul global à
outrificação subalternizante (leia crítica do novo livro de Seligmann-Silva à pág. 156). O dispositivo estético moderno aniquilador é posto em xeque por obras que atualizam cânones brasileiros e europeus, como as pinturas de Marcela Cantuária e O Bastardo expostas em Contramemória, no Theatro Municipal de São Paulo, curadoria de Jaime Lauriano, Lilia Schwarcz e Pedro Meira, por ocasião do centenário da Semana de Arte Moderna de 1922.
Cantuária traz para o presente o gênero da coleção particular, especialmente a obra Gabinete de Pintura de Cornelis van der Geest Durante a Visita dos Arquiduques (1628), de Willem van Haecht, substituindo todas as telas que forram o gabinete de Geest por representações de pinturas e fotografias de artistas mulheres latino-americanas. Já O Bastardo, em operação semelhante, ressignifica a icônica fotografia dos participantes da Semana de 22 substituindo a hegemonia branca e elitista do retrato original por personagens da arte preta, incluindo o autor da obra, que entra em cena no lugar antes ocupado por Oswald de Andrade.

PODER Y GLÓRIA

A reescrita da história acrescida do ponto de vista subjetivo, que inclui o próprio artista e/ou sua trajetória pessoal na cena histórica, como em Aline Motta, Marcela Cantuária e O Bastardo, está no horizonte também de nomes como Tadáskia e Vulcanica Pokaropa. Duas obras atualmente expostas em galerias, uma em São Paulo, outra no Rio de Janeiro, operam inflexões em dois cânones da arte brasileira, Anna Maria Maiolino e Carlos Vergara. Vulcanica expõe n’A Gentil Carioca do Rio a fotografia Poder y Glória

Na pág. à esq., no alto, 1º Salão Latino Americano y Caribeño de Artes - Salão das Mulheres (2022), de Marcela Cantuária; e Gabinete de Pintura de Cornelis van der Geest Durante a Visita dos Arquiduques (1628), de Willem van Haecht; abaixo, Os Contemporâneos - Brasilfuturismo (2022), d’O Bastardo; e a fotografia de participantes da Semana de Arte Moderna de 1922 no Hotel Terminus, em São Paulo

107 VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023
DIVULGAÇÃO E REPRODUÇÃO
FOTOS:
(2022), que retrata três travestis racializadas com os peitos à mostra, com as três palavras que compõem o título escritas cada uma no corpo de uma das retratadas. O diálogo que a artista estabelece com a fotografia de 1972 de Carlos Vergara, em que o carioca registrou três jovens negros sem camisa, com a palavra “poder” escrita em branco no corpo, durante o bloco Cacique de Ramos, no Carnaval do Rio, é autoexplicativo. Atualizando o poder preto daqueles garotos da periferia carioca, cabelos descoloridos como hoje se pratica ainda nas comunidades, Vulcanica


Pokaropa clica as três amigas na Praça Roosevelt, em São Paulo, afirmando o poder preto – e a glória – que as mulheres trans conquistaram nesse ínterim de 40 anos e, sobretudo, em anos recentes.

“Isso é o que a gente quer e merece, e essa obra demarca esse período histórico de conquistas”, afirma Pokaropa à seLecT_ceLesTe. “Quando vi a fotografia do Carlos Vergara, fiquei com vontade de fazer uma releitura com travestis pretas, pois da mesma forma que aqueles homens não podiam escrever black power no corpo em meio à ditadura, hoje não nos é permitido nos associar a religiões pentecostais e neopentecostais, por exemplo, que são religiões que demonizam a nossa identidade e os nossos corpos”, reflete a artista. Nascida e criada em ambiente católico, Vulcanica conta que os símbolos recorrentes em sua produção, como a cruz invertida, velas e a navalha – elementos presentes nas suas pinturas expostas na mostra Abre-Alas na galeria A Gentil Carioca de São Paulo –, têm para ela o sentido de ressignificar as imagens excludentes da Igreja Católica, “colocando de ponta-cabeça tudo o que me foi imposto à força”, explica. “A navalha é um símbolo de resistência travesti, principalmente por causa da Operação Tarântula, quando elas usavam a navalha para se defender, naquele contexto de HIV/
Aids, porque o medo de contaminação afastava a brutalidade policial que as perseguia.”
Tadáskia, em obra exposta na coletiva Meu Corpo: Território de Disputa, curadoria de Galciani Neves para a galeria Nara Roesler de São Paulo, revisita a icônica performance para a câmera fotográfica Por um Fio (1976), de Anna Maria Maiolino. Corda Dourada com Minha Mãe Elenice Guarani, Minha Tia Marilucia Moraes, Minha Vó Maria da Graça e Minha Tia Gracilene Guarani (2020), a obra de Tadáskia conecta a linha matriarcal de sua família por um fio dourado, que as retratadas prendem na boca, como na foto de Maiolino, em que esta se conecta à mãe e à filha por meio de um barbante, também preso pela boca das três. A fala, como linguagem, o idioma materno, é subentendida nas fotografias dessas duas artistas como o elemento de conexão mais forte entre as gerações de mulheres de uma família, o conhecimento ancestral transmitido pela oralidade e afetividade.
ANCESTRALIDADES
Mona Hatoum, Nan Goldin, Sophie Calle e a própria Anna Maria Maiolino poderiam ser evocadas aqui como matriarcas da linhagem estético-política das artistas Marcela Cantuária, Tadáskia, Vulcanica Pokaropa e Larissa de Souza. Measures of Distance (1988) é um curta-metragem autobiográfico de Hatoum que intercala fotos que retratam a mãe da artista tomando banho, sobrepostas por imagens
Na pág. à esq., no alto, Poder y Glória (2022), de Vulcanica Pokaropa; e Poder (1972), de Carlos Vergara; abaixo, Por um Fio, da série Fotopoemação (1976), de Anna Maria Maiolino; e Corda Dourada com Minha Mãe Elenice Guarani, Minha Tia Marilucia Moraes, Minha Vó Maria da Graça e Minha Tia Gracilene Guarani (2020), de Tadáskia

109 VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023
"NINGUÉM FICOU MAIS BRANCO NO BRASIL POR AMOR" (ALINE MOTTA)
FOTOS: CORTESIA GALERIAS A GENTIL CARIOCA (FOTO FILIPE BERNDT), LUISA STRINA (FOTO REGINA VATER), E NARA ROESLER (DIVULGAÇÃO)
de cartas recebidas pela filha nos mais de dez anos de exílio em Londres – impedida de visitar a mãe desde a eclosão da Guerra Civil no Líbano, em 1975 –, com dois canais de áudio: em um deles, Mona Hatoum lê traduzindo para o inglês trechos das cartas; no outro, um diálogo íntimo e franco entre mãe e filha sobre sexualidade, machismo e sentimentos, quando, finalmente, puderam se reencontrar em Beirute, no fim dos anos 1980.
Nascida em Beirute, filha de palestinos, Hatoum afirma sobre o seu Medidas de Distância (1988), em entrevista publicada na monografia de 1997, editada pela Phaidon: “Embora o que transpareça seja uma relação muito próxima e afetiva entre mãe e filha, (o vídeo) fala também de exílio, deslocamento, desorientação e um enorme sentimento de perda, por causa da separação provocada pela guerra. Nesse trabalho, eu também estava tentando ir contra a identidade fixa que geralmente está implícita no estereótipo da mulher árabe como passiva, e da mãe como ser não sexual”. A conversa entre as duas inclui comentários sobre a indignação do pai da artista com a iniciativa de fazer fotos de sua esposa no chuveiro. Operando uma fenda no tabu que cerca o corpo materno, Hatoum não apenas provê um espaço de liberdade para a expressão da mãe, mas também sobrepõe ao peso do patriarcado uma conexão anterior e mais profunda de identidade.

As pinturas de Larissa de Souza, artista representada pela HOA Galeria, também permeiam o campo da memória afetiva, a partir da noção de pertencimento como uma mulher negra e afro-brasileira. A religiosidade, sororidade, relação e vínculos com outras importantes personagens de sua vida, em especial sua avó e sua mãe, pautam grande parte de sua produção, que subverte a noção de que “todos os trabalhos devem ser políticos e sobre violência”, propondo outro tipo de narrativa como ato político. “Acredito que muitas das minhas criações surgem da memória pessoal e, por sua vez, coletiva. Percebo que as pessoas se sentem representadas, com suas memórias despertadas ao ver minha pintura. Pintar as memórias foi o mecanismo que tive para chegar o mais próximo dos meus antepassados. Também me fez olhar para o ancestral presente e o que ele pode ser para os meus futuros. Eu pinto a memória para não esquecer de onde vim”, afirma Souza à seLecT_ceLesTe.
Em A Ligação (2022), pintura da série inédita no Brasil Paredes Que Contam Histórias, em cartaz na sua primeira individual em Nova York, na galeria Albertz Benda, Larissa de Souza retrata uma mulher que fala ao telefone, sentada em uma cadeira. Partindo de referências visuais das platibandas, detalhe arquitetônico colonial de casas populares do sertão nordestino, e do pensamento sobre o amor e como ele se constitui, a artista extrapola o perímetro

110 VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023
Measures of Distance (1988), de Mona Hatoum; à dir., A Ligação (2022), de Larissa de Souza
FOTOS: DIVULGAÇÃO; ADAM REICH/CORTESIA DA ARTISTA E ALBERTZ BENDA, NOVA YORK LOS ANGELES
da moldura, recorrente em sua produção, para atingir outra espacialidade na tela, agora sem limites. “As histórias contadas nessa série são histórias que vi, vivi e que muitas mulheres ainda vivem dentro de suas casas. Em cada casa existe uma história sendo contada. Quando olho para uma parede descascada e suas camadas de tintas sobrepostas, penso na passagem do tempo e me pergunto o que essas paredes avistaram”, diz.
A artista conta que, quando iniciou a pintura A Ligação, estava tomada por um sentimento de reconciliação e as pinceladas foram contando uma história a partir disso. “Uma mulher em frente a uma janela, sentada numa cadeira no interior da casa, tem um olhar fixo para o nada, enquanto segura o telefone. Essa imagem pode ter várias histórias: uma notícia de um ente querido, uma reconciliação talvez (risos), a saudade de alguém que mora longe... Não pensar na pintura enquanto estou pintando, ao olhar o resultado, me faz refletir sobre tantas histórias que ela poderia ter. Uma das minhas reflexões é que, antigamente, receber um telefonema se tratava de um assunto muito sério, porque nem todos tinham dinheiro para pagar a conta telefônica. Acho que retratei um momento de uma ligação muito importante, esperada ou inesperada. Mistério.”
A nova série é, de certa forma, uma ampliação e aprofundamento da anterior, intitulada Retratos Perdidos (2021), em que a artista aborda a impossibilidade de acesso às imagens fotográficas e como isso fez parte do apagamento histórico da população afro-brasileira. “Muitas vezes, a memória de nossos antepassados é marcada pela foto da carteira de trabalho. Mas o desdobramento que essa questão trouxe foi pensar a fotopintura, que também é uma forma mais acessível de atingir a fotografia”, diz Larissa. As molduras ovais e o fundo predominante verde trouxeram esse símbolo para o topo de cada casa pintada na série Paredes Que Contam Histórias, com o objetivo de retratar o sentimento oculto em cada cena.

PRIMEIRA PESSOA DO PLURAL
Muita gente tem curiosidade sobre os bastidores do trabalho jornalístico, que tem de fato várias peculiaridades e sutilezas, como deve ser o caso de outras profissões também. Ocorre que, na presente edição de seLecT_ceLesTe, sobretudo neste caderno dedicado à virada testemunhal, adotamos o dispositivo da escrita em primeira pessoa. De modo que cabe aqui um parêntese, antes de apresentarmos a última artista desta reportagem que investiga a primeira pessoa na arte. Ela foi uma das corajosas que toparam participar da seção Fogo Cruzado, respondendo à pergunta sobre
privilégio branco. Em nossa troca de e-mails, porque estávamos apurando também a presente reportagem, nos ocorreu perguntar a ela se via sua pesquisa artística inserida nesse contexto testemunhal. E propusemos que sua obra poderia ser lida como um “eu” que fala de um “nós”. A resposta dela reorientou completamente a nossa apuração e nos levou por novos caminhos e inquietações que resultaram no texto que você, leitora/leitor, tem agora diante dos olhos. Por essa razão, optamos por reproduzir a seguir a resposta como a recebemos, com edições pontuais por motivo de clareza e fluidez. Com a palavra, Élle de Bernardini:
“Todo meu trabalho é um ‘eu’ que fala de um ‘nós’. Eu sou uma mulher trans, nenhuma novidade, e minhas pesquisas sempre foram sobre a história da sexualidade em relação à história da arte. Então estou sempre olhando onde as duas histórias se cruzam e onde não se cruzam, e também onde uma se sobrepõe a e apaga a outra. A história da arte tem uma dívida histórica com as questões da transexualidade e das sexualidades outras que não a heteronormatividade e normatividade dos corpos. Nesse sentido, toda a minha produção artística parte de uma urgência pessoal de falar sobre esses outros corpos, pois eu sou um deles. Mas não se trata de falar da minha vida em específico, pois, apesar de trans, sou branca e privilegiada, e entendo que, em comparação com outres não brancos, estou, mesmo que trans, em algum lugar de privilégio, então, e também por vir da filosofia, tento levar esse discurso para o universal, partindo desse particular esquecido, invisibilizado. E, assim, (re)construindo as histórias. Então minha resposta seria sim! E todos os meus trabalhos podem ser exemplos disso”. A artista prossegue elencando algumas séries de obras: Dance With Me (2018-2019), a performance em que Élle de Bernardini cobre o corpo inteiro com folhas de ouro e tira para dançar espectadores do museu onde realiza a ação, “fala desse corpo que não é aceito nem quando coberto de ouro, e provoca o outro a desconstruir e confrontar essa noção quando ela se apresenta materializada na sua frente. Colocando a pergunta: será que vocês não aceitam sob determinadas circunstâncias?!”, escreve. Em seguida, cita outra performance, A Imperatriz (2017-em processo), que consiste em tomar de assalto o espaço museal vestida como uma rainha, que ela descreve em seguida, como “uma série em que utilizo os meus privilégios para abrir os espaços de poder e institucionais da arte, investigando o que chamo de ‘mecanismos de aceitação e rejeição’, que são: cor da pele, aparência europeia, classe social, comportamento normativo. E que investiga como as instituições recebem essa figura, mesmo ela sendo transexual, ao mesmo tempo
113
“EU PINTO A MEMÓRIA PARA NÃO ESQUECER DE ONDE VIM” (LARISSA DE SOUZA)
FOTO: CORTESIA DA ARTISTA E HOA GALERIA
Obra da série Retratos Perdidos (2021), de Larissa de Souza
“SERÁ QUE ARTE SOBRE
IDENTIDADE É SEMPRE EM PRIMEIRA PESSOA, SEMPRE FIGURATIVA, SEMPRE COM CORPOS À MOSTRA?”
(ÉLLE DE BERNARDINI)

que fala da história da humanidade, apontando para o fato de nunca ter havido uma soberana trans em nenhuma cultura no mundo todo”.
Sobre Peludinhos (2022), ela diz: “É outra série de trabalhos que fala dos fetiches dos nossos corpos, de como a sociedade lida com os nossos corpos e os fetichiza. Nesse caso, eu transfiro o fetiche que nós recebemos para o objeto, fazendo a inversão sujeito-objeto, e sinalizando que o que deve ser fetichizado são os objetos e não os sujeitos e suas narrativas”.
A obra Genital Panic II (2015) “é uma fotoperformance d’eu sentada usando um jeans rasgado com meu escroto para fora em contraste com meu rosto feminino, apontando para o que se esconde e se mostra por meio das aparências e da questão da passabilidade do meu corpo na sociedade –que não o lê num primeiro momento como um corpo trans, pois ele foge à norma do que a sociedade está acostumada a ver como o corpo trans e travesti, justamente pela questão do estereótipo e da fetichização desses corpos entendidos somente como corpos do prazer e da prostituição”.

Élle de Bernardini continua: “A série dos ‘cortes’ nas telas é uma série baseada no livro A Arte Queer do Fracasso, em que o corte é pensado como o elemento central da feminilidade, seja para produzi-la (cirurgias), seja para negá-la (automutilação). Uma das obras se chama A Professora de Piano (2022) e alude ao livro (de Elfriede Jelinek) em que uma mulher automutila a vagina na tentativa de destruir essa mulheridade, essa feminilidade esperada pela sociedade, pois a personagem é severa, fria e rígida, longe do padrão feminino esperado”.
Também é de 2022, “a série Ensaio para Encontro do Rosa com o Azul, em que estou preocupada com a necessidade imposta pelo sistema, de sempre falar sobre questões de sexualidade e gênero, justamente tendo como centro a identidade pessoal para apresentar o debate. Será que o debate não pode ser apresentado em termos formais, por meio do uso de cores e formas geométricas, como fizeram os neoconcretistas? Será que, como artista trans, para falar sobre transexualidade e sobre a minha vida, preciso recorrer sempre à minha imagem? E será que isso é necessário, uma vez que a arte me oferta diversos mecanismos simbólicos para tratar dos assuntos sem necessariamente estar um rosto, um
corpo, uma imagem pictórica presente? Será que arte sobre identidade é sempre em primeira pessoa, sempre figurativa, sempre com corpos à mostra? Uma vez que arte no seu mais primórdio entendimento é sobre o campo do simbólico”.
São muitos os trabalhos de Élle de Bernardini, todos estão conectados entre si. “Cada série, um argumento, uma questão desse caleidoscópio que é o debate sobre gênero e sexualidade. Não existe apenas um ponto, uma questão, mas várias, como algumas que mencionei acima: feminilidade, fetichização, relação sujeito-objeto, passabilidade, biopoder. A série das esculturas moles, por exemplo, em que cada obra recebe o nome de uma figura transexual importante para a nossa história. E nessas obras eu faço justamente o que me proponho na série Ensaio para Encontro do Rosa com o Azul: não trago a imagem de seus rostos e corpos, mas uma interpretação de suas personalidades materializada em formas de náilon, areia e outros objetos. É uma série que fiz com várias personagens: Claudia Wonder, Isabelita dos Patins, Luana Muniz… Porque temos de atentar para uma questão muito importante e perigosa, estamos no mercado da arte, essas obras são comercializadas, vendidas, compradas. E temos de ter um cuidado redobrado para não objetificar essas pessoas. Podemos estar cheias de boas intenções, mas, quando a obra é vendida, o dinheiro é meu e da galeria, não dessas pessoas ‘homenageadas’, ou melhor, resgatadas, que em sua maioria tiveram vidas sofridas e muito pobres. Quando digo que temos de resgatar essas figuras, devemos torná-las sujeito dentro dessa (re)construção da história. É quase um paradoxo, pois produzimos objetos. Mas a série Peludinhos tenta resolver esse problema. Ali o objeto se torna sujeito, e por ser objeto pode e é objetificado, mas o que está sendo objetificado são as questões sobre identidade e sexualidade, não as pessoas. Podemos ter boas intenções, mas acabar errando por objetificar os sujeitos que queremos enaltecer e resgatar, e torná-los mercadoria de compra e venda de uma classe dominante, rica, que é a classe que compra obras de arte.”
Uma semana se passou antes que conseguíssemos articular uma palavra sequer em resposta à resposta de Élle. Ela nos pôs a pensar na abordagem e no escopo que essa reportagem poderia ter, no impacto que um viés acarreta na mediação entre arte e público ou entre revista de arte e leitores. Ela nos fez rever a pauta, rever os temas contemplados pela matéria, rever os artistes, o conjunto de obras que considerávamos mobilizar para construir essa narrativa sobre arte em primeira pessoa. Mudou tudo, e aqui podemos compartilhar outro elemento fulcral dos bastidores do trabalho jornalístico: quando você sai da Redação com uma pauta (um assunto, uma lista de possíveis entrevistados, uma ideia de abordagem e algumas hipóteses acerca do tema) e retorna com a reportagem que você tinha imaginado fazer, você fez alguma coisa muito errada.
114 VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023
FOTOS: CORTESIA DA ARTISTA E GALERIAS PORTAS VILASECA E MARLI MATSUMOTO
Moiras (2022), de Élle de Bernardini; abaixo, a artista realizando a performance Dance W ith Me no Museu de Arte do Rio, em 2018
VIRADA PATRIMONIAL
116 117 VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023
HISTORIADORA EXPÕE EM
NOVO LIVRO COMO OS MUSEUS
EUROPEUS FRUSTRARAM O EMPENHO DA ÁFRICA PARA
RECUPERAR SEU PATRIMÔNIO
CULTURAL, SUFOCANDO O DEBATE
PÚBLICO. EM ENTREVISTA, AFIRMA
QUE A LUTA AFRICANA NÃO PODE MAIS SER IGNORADA
BÉNÉDICTE SAVOY, PROFESSORA DA UNIVERSIDADE TÉCNICA DE BERLIM E UMA DAS MAIS RECONHECIDAS
ESTUDIOSAS DO TEMA DAS OBRAS DE ARTE SAQUEADAS
Bénédicte Savoy é autora, com Felwine Sarr, do importante The Restitution of African Cultural Heritage: Toward a New Relational Ethics mais conhecido como Relatório Sarr-Savoy
RETORNO DO BUMERANGUE
MÁRCIO SELIGMANN-SILVA
DURANTE A ERA COLONIAL, ESTÁ PERPLEXA COM O QUE VEM ACONTECENDO NO MUNDO DOS MUSEUS. Nesta entrevista, realizada por e-mail no fim de janeiro, ela nos conta que a restituição ao Benin, em 9 de novembro de 2021, de estátuas, tronos e outros objetos preciosos confiscados pelo exército francês na cidade real de Abomey em 1892, que estavam em museus franceses, é comparável à queda do Muro de 1989. Com efeito, como escreve na apresentação da edição francesa de seu livro A Luta da África por Sua Arte: História de Uma Derrota Pós-Colonial (2021), em 2018 o ministro da Cultura do Benin afirmou que a restituição da herança africana à África, se um dia ocorresse, seria “como a queda do Muro de Berlim ou a reunificação das duas Coreias”. E isso está acontecendo! Savoy usa a metáfora do retorno do bumerangue. Podemos ler nessa imagem tanto uma alusão ao retorno das obras aos seus países de origem como também uma referência ao tema do roubo em si, associado a uma longa história de ocupações, pilhagens e genocídios coloniais. A História Moderna é marcada por esse voo do bumerangue: a violência colonial retornando em cheio para abalar a própria Europa. Aimé Césaire, em seu poderoso ensaio de 1950, Discurso Sobre o Colonialismo, usava essa mesma figura ao falar de um formidable choc en retour (“formidável choque de retorno”) ao se referir à violência colonial sendo aplicada no solo europeu pelas forças nazistas. Também Hannah Arendt se referia à volta do bumerangue ao tratar das relações entre nazismo e violência colonial. Mas Savoy aponta as continuidades também após a Segunda Guerra Mundial: os responsáveis por bloquear tanto a restituição das obras roubadas aos judeus no nazismo, em processos dos anos 1950, como também por abafar as demandas das nações africanas nas décadas seguintes, quando reivindicavam suas obras pilhadas, eram em parte os mesmos burocratas que haviam iniciado as suas carreiras durante o período nazista. Na longue durée percebemos que a Modernidade e sua nervura capitalista tiveram no colonialismo e no nazifascismo as suas mais autênticas concretizações. Savoy lança mão também, tanto no seu livro como nesta entrevista, da metáfora psicanalítica do recalcado que retorna à superfície: as forças destrutivas acumuladas pela empresa colonial enquanto máquina de destruição agora são expostas à luz do dia. Os saques de obras eram sintomas de uma sanha destruidora. A restituição tem um sentido
119 VOL. 11 N. 53 MAR/ABR/MAI 2022
ENTREVISTA / BÉNÉDICTE SAVOY
FOTO: CORTESIA DO ARTISTA
O
FOTO: ARTE DE NINA LINS SOBRE FOTOGRAFIA DE MARKUS WÄCHTER
de reparação, de construção de um mundo sem as amarras coloniais. Como ela afirma, é hora de escutarmos as outras vozes e epistemologias múltiplas até agora amordaçadas pelo discurso pretensamente universal da razão eurocêntrica. Não há mais espaço para a desautorização das falas dos que até agora eram “outrificados”, calados e infantilizados (tornados “sem fala”, infans). Não se pode mais aceitar o argumento da “presunção de incapacidade” dos povos africanos com relação ao seu próprio patrimônio cultural. A autora fala também de novas perspectivas geopolíticas de relacionamento Sul-Sul, para além dos estribos coloniais, se articulando nos países africanos. Quem sabe o Brasil também possa cooperar nesta nova reestruturação do campo do imaginário, das trocas simbólicas, mas também econômicas, para além de todo o colonialismo e para além, sobretudo, do neofascismo que nos estava sufocando e assassinando os povos originários.
MÁRCIO SELIGMANN-SILVA: Como a senhora julga a atual onda de restituições de obras realizadas por importantes museus, como o British Museum, eventualmente devolvendo obras à África e os Elgin Marbles para a Grécia? A senhora diria que, depois de mais de 50 anos de luta pela restituição, as antigas potências metropolitanas estão se rendendo ao fato de que essas obras foram mesmo roubadas? Ou elas reconheceram que tais obras possuem para os locais de sua origem um significado espiritual, para além do material?
BÉNÉDICTE SAVOY: Em novembro de 2021, vários objetos preciosos, confiscados pela França no fim do século 19, foram devolvidos ao Benin. Este é, portanto, o primeiro país da África ao Sul do Saara a obter a restituição de uma ex-potência colonial europeia. Este evento é de primordial importância, alguns o comparam à queda do Muro de Berlim. Ele marca um importante ponto de virada na política de patrimônio global. Após décadas de negação e amnésia, a delicada questão das restituições tornou-se óbvia. Alemanha, Bélgica e Grã-Bretanha comprometeram-se energicamente com a dinâmica das restituições. As razões para esta mudança de paradigma são muitas. Na década de 1970, os museus e as administrações culturais europeias conseguiram não só frustrar a luta da África pela recuperação do seu património cultural, como também sufocar o debate público e apagar a memória coletiva a ele ligada. A questão volta hoje em nossas sociedades com a força exponencial de um bumerangue, como o retorno de um recalcamento colonial. Mas desta vez ela não pode mais ser ignorada. Restituição, descolonização, justiça social e justiça patrimonial andam de mãos dadas. Por outro lado, penso que a questão do sentido espiritual das obras, das epistemologias plurais que as caracterizam nas suas regiões de origem, do vazio deixado pela sua ausência, ainda não é bem compreendida na Europa. Ainda há
muito trabalho a fazer, sobretudo de escuta: é preciso calar e escutar o que artistas, intelectuais, acadêmicos, comunidades tradicionais etc. têm a dizer sobre esses testemunhos materiais da história da África.
No seu livro publicado na Alemanha em 2021 e agora publicado entre nós, A Luta da África por Sua Arte: História de Uma Derrota Pós-Colonial (2023, Editora da Unicamp), para respaldar essa luta pela restituição, a senhora realiza uma espécie de história detalhada de suas etapas, partindo do início dos anos 1960. Lendo seu livro é surpreendente, para o não iniciado no tema, como já nos anos 1960, e mesmo nos anos 1950, lembrando do Primeiro Congresso Internacional dos Artistas e Escritores Negros, em Paris de 1956, quase todos os argumentos pela devolução e as respostas metropolitanas (repetidas até hoje) contra elas já se encontravam ali. Podemos falar de um processo de elaboração quase psicanalítico de um trauma colonial, no

qual esses bens roubados seriam sintomas de uma violência que persiste ainda hoje? Como a senhora compreende essa continuidade?
Com efeito, há 40 anos, a questão da restituição à África do seu património cultural transferido para a Europa durante a época colonial estava na ordem do dia. As reclamações foram feitas. As conversas fracassaram. Elas foram então esquecidas, ou melhor, ativamente reprimidas por certos atores da vida cultural, museus na liderança. A existência desse primeiro debate sobre as restituições e a amnésia que o envolve é, sem dúvida, uma das descobertas mais surpreendentes dos últimos meses, não só para os “não iniciados”, como o senhor formula, mas também para especialistas no assunto, como eu. Encontrar esses documentos nos arquivos de Paris, Berlim, Londres etc. foi um choque. Nesse sentido, sim, há uma dimensão psicanalítica em toda essa questão, de psicanálise social e coletiva. A partir de agora, o discurso está livre e a violência de certas posições atuais é certamente fruto de 40 anos de repressão. Mas, desta vez, ele não pode mais ser ignorado. Repito, restituição,
descolonização, justiça social e justiça patrimonial andam de mãos dadas.
Sua maravilhosa apresentação do filme You Hide Me (1971), do diretor nascido em Gana Nii Kwate Owoo, assim como a referência ao fortíssimo filme de Chris Marker, Alain Resnais e Ghislain Cloquet, Les Statues Meurent Aussi (1963), revelam a existência de uma consciência bastante clara da violência que sustentava a estrutura dos museus metropolitanos. Por que os argumentos dos políticos, além desses empacotados em excelentes obras cinematográficas, não conseguiam romper com o bloco de concreto do negacionismo neocolonial, com sua negativa em abdicar das obras? Estaria por trás dessa resistência, mesmo entre alguns etnólogos, uma recusa em aceitar “o africano” como parceiro de um diálogo?
Sim, isso está claro. Fica-se paralisado ao encontrar, em certos arquivos de museus da década de 1970, posições explicitamente racistas assumidas por diretores e curadores, como o diretor do museu de Stuttgart, que ousou escrever
121 VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023 120
“RESTITUIÇÃO, DESCOLONIZAÇÃO, JUSTIÇA SOCIAL E JUSTIÇA PATRIMONIAL ANDAM DE MÃOS DADAS”
FOTO: ARTE DE NINA LINS SOBRE FOTOGRAFIA DE LOUISA OFF
Bronzes devolvidos pelo governo francês ao Benin
ao seu ministério superior, em carta oficial de 1976, que no momento da independência, os círculos da intelectualidade africana desenvolveram “um sentido por vezes exagerado da sua própria dignidade, dos seus feitos, das suas tradições e da sua pertença coletiva”, que, segundo ele, “provavelmente não há quase ninguém, na África, que tenha algum interesse cultural por estas coleções, em particular nas cidades”, pelo que é necessário enviar para estes países “comissões mistas”, compostas de peritos europeus e norte-americanos, para estabelecer a lista dos bens culturais que ficaram nos países, “porque só assim se pode criar uma base fiável e bem informada”. Ele afirma ainda que tais inventários permitiriam aos “povos do Terceiro Mundo” ter uma visão mais realista do que realmente valem. Durante muito tempo, até recentemente, a presunção de incapacidade desempenhou um papel central no discurso antirrestituição, ou seja, a ideia de que os africanos não são apenas incapazes de conservar devidamente seus patrimônios, mas – pior – de que nem sequer são conscientes do que possuem e do seu valor. Nesse sentido, o extraordinário filme de Nii Kwate Owoo, então um jovem estudante em Londres, rodado em 1970 nas caves do Museu Britânico, manteve toda a sua relevância. Mesmo que nos últimos meses, graças ao debate sobre a restituição, tenhamos ouvido menos publicamente sobre essa suposta incapacidade.
Na sua história da resistência para lá de complicada dos diretores da Stiftung Preußischer Kulturbesitz (Fundação do Patrimônio Cultural da Prússia), fundada em 1957, então responsável pelas políticas culturais da Alemanha Ocidental, fica clara a relação entre personagens mais avessos à restituição e seus passados nazistas. Essa confluência entre nazismo e continuidade da violência colonial pode ser vista em relação à intuição da Hanna Arendt em As Origens do Totalitarismo, que via na experiência colonial alemã na África uma escola para a criação de futuros SS?
Certamente ainda há, na Alemanha, nos atuais debates sobre os museus, o grande tema pouco discutido das continuidades políticas entre o regime nazista e as instituições museológicas do pós-Guerra, assim como há uma virtual invisibilidade do papel desempenhado pela RDA (Alemanha Oriental) e, mais genericamente, pelo bloco oriental, rico em acervos africanos, no debate sobre a restituição durante os anos da Guerra Fria. Na Alemanha Ocidental, após a Segunda Guerra e a Shoah, as mesmas instituições, os mesmos diretores de museus, as mesmas administrações culturais, os mesmos juristas que começaram suas carreiras no aparato do Estado nazista e acabaram nos museus ou nos ministérios da RFA, decidem o destino das obras de arte saqueadas de famílias judias desde 1935 e das coleções acumuladas, às vezes com extrema violência, no contexto colonial alemão. Isso não significa que devemos confundir tudo e comparar a espoliação de famílias judias com a
pilhagem colonial realizada sistematicamente por volta de 1900 pelo exército alemão na África, após violentos eventos militares. Cada contexto histórico tem suas especificidades, que devem ser conhecidas e respeitadas. Mas o fato é que os próprios objetos saqueados acabam nas mesmas instituições públicas, e que os pedidos de restituição feitos pelos países africanos desde a década de 1960 são contornados pelo mesmo pessoal que na década de 1950 se esquivou da questão das restituições às famílias judias que haviam sido espoliadas. Ainda precisamos trabalhar essas questões, e fazê-lo com muita sensibilidade, especialmente no contexto alemão, onde surgiu nos últimos meses uma oposição doentia envolvendo estudos pós-coloniais e suspeitas de antissemitismo (debates em torno de Achille Mbembe em 2020 e da Documenta em 2022).
No seu livro também fica clara a relação entre políticas neocoloniais que recusam a restituição de obras e racismo, eurocentrismo, machismo e misoginia. Trata-se de uma cultura neocolonial marcada por continuidades gritantes. E na sua conclusão lemos: “É crucial inscrevermos o atual debate da restituição na longue durée dos processos históricos, a fim de reconhecermos as conjunturas políticas, pessoais, administrativas e ideológicas que moldam essa discussão há meio século. Só assim será possível romper com os modelos institucionais há décadas praticados na Europa no sentido de uma nova ética das relações com a África. Continuar jogando para ganhar tempo, como nos anos 1970, e ostentar o patrimônio cultural da humanidade a título de se obter afirmação nacional já deixaram de ser uma opção para o futuro”. A senhora acredita que esses novos sinais que vêm sendo dados no sentido da restituição indicam que essa “nova ética das relações com a África” está despontando? Vê uma mudança tectônica profunda ocorrendo no cenário atual dos museus?
Sim, há uma mudança profunda. Certamente, não está ligada apenas à questão da restituição, que nos últimos meses se tornou tanto um elemento quanto um “observatório” ou um sismógrafo dessa mudança. Por toda parte, sentimos uma afirmação desinibida dos países e das sociedades civis dos países africanos, que para alguns viraram definitivamente a página de uma antiga vassalagem às antigas potências coloniais e com muita confiança estabelecem novas alianças, multiplicando parcerias fora da Europa e não se deixando mais prender silenciosamente pelos interesses neocoloniais da Françafrique. Na África Ocidental e em Camarões, por exemplo, o fortíssimo sentimento antifrancês não desapareceu, apesar dessas restituições. Mas são, na minha opinião, um gesto sincero e verdadeiro. Para a nova ética relacional que Felwine Sarr e eu reivindicamos no relatório enviado a Emmanuel Macron, em 2018, obviamente será necessário um grande número de outros gestos igualmente verdadeiros e sinceros. Mas tenho certeza: zarpamos.
122 123 VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023
FOTO: ARTE DE NINA LINS SOBRE FOTOGRAFIA DE JENS SCHLUETER
RED LIST BRASIL: GUERRAAOCONTRABANDO

Máscara Tawã com base de madeira emplumada de araras, olhos com madrepérola, do povo Apyãwa/Tapirapé, século 21, item de número 28 na Red List Brasil
FOI LINDO. NOITE DA ARTE, DOS MUSEUS E DAS MULHERES NO PODER. FOI LINDO ASSIM O LANÇAMENTO, DIA 14/2, NO MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA, DA LISTA VERMELHA BRASIL, DOCUMENTO ELABORADO PELO CONSELHO INTERNACIONAL DE MUSEUS (ICOM) QUE RELACIONA E TIPIFICA BENS CULTURAIS VULNERÁVEIS COM O OBJETIVO DE PROTEGER O PATRIMÔNIO CULTURAL DO PAÍS. Conhecida internacionalmente como Red List, a publicação – que já existe em outros 57 países –, devidamente distribuída a autoridades policiais e alfandegárias do mundo inteiro, vai coibir a retirada ilegal de fósseis, arte sacra, mapas, livros raros e peças etnográficas e arqueológicas do Brasil. Em noite de fortes emoções, o funcionamento da Red List Brasil e sua importância foram apresentados por mulheres ilustres: a ministra da Cultura, Margareth Menezes; a presidenta global do ICOM, Emma Nardi; a presidenta do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), Fernanda Castro; a diretora do Departamento de Proteção do Patrimônio no ICOM, Sophie Delepierre; a presidenta do ICOM Brasil, Renata Motta; a perita em Direito Internacional do Patrimônio Cultural e responsável pela coordenação técnica da Red List Brasil, Anauene Soares; a Secretária de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Marília Marton; e a diretora do ICOM Brasil, Roberta Saraiva Coutinho, para ficar apenas nas principais protagonistas. Para fazer a Red List Brasil – a Lista Vermelha de Objetos Culturais Brasileiros em Risco – foram oito anos de pesquisa, interlocução com especialistas de órgãos governamentais responsáveis pelas áreas afins (paleontologia, arqueologia, museologia etc.), além da parceria e apoio mútuos entre a sede francesa do ICOM e o comitê brasileiro da instituição. Segundo a coordenadora técnica do projeto, Anauene Soares, em coletiva à imprensa que precedeu o lançamento, a seleção dos 39 itens que integram a lista final teve como critérios a identificação dos objetos mais visados pelo tráfico ilegal; o estabelecimento de tipologias que podem auxiliar os profissionais envolvidos no reconhecimento de um grupo de objetos semelhantes, em vez de apenas um item específico; e a consolidação de uma lista de leis, acordos bilaterais e outros instrumentos legais nacionais e internacionais que protegem os bens culturais elencados.
“A publicação de uma Red List depende desses três fatores: que o patrimônio cultural esteja em situação de vulnerabilidade, que exista demanda do mercado ilegal e que o país possua uma legislação robusta que protege esses bens”, afirma Emma Nardi, presidente do ICOM global. Sophie Delepierre, do Departamento de Proteção do Patrimônio no ICOM, fornece um exemplo prático da eficácia da lista: “No ano passado, acompanhamos uma investigação na Holanda de evasão ilegal de fronteira de um item que consta da Red List Iraque. O agente alfandegário holandês inspecionou a bagagem de alguém que tentava entrar no país com um conjunto de objetos e desconfiou de uma estatueta que o viajante trazia. A pessoa não tinha a devida documentação de origem dos itens e foi responsabilizada por tráfico ilícito. Esse agente de alfândega suspeitou que poderia se tratar de um bem cultural protegido porque conhecia a imagem de uma estatueta muito semelhante àquela da Lista Vermelha Iraque”, conta à seLecT_ceLesTe. Por levantar essa “bandeira vermelha” é que a Red List é tão útil: o documento serve para instrumentalizar os agentes fiscalizadores a reconhecer objetos suspeitos e tomar as devidas providências, embasados nas respectivas legislações de proteção de cada país de origem.
PATRIMÔNIO VULNERÁVEL
As Red Lists não são listas de objetos roubados, mas de tipologias de objetos em risco, descritas e ilustradas com fotografias. A lista brasileira é a 20ª publicada pelo ICOM, e a anterior foi uma edição emergencial dedicada à Ucrânia, por causa da invasão russa e do aumento do risco de pilhagem. A frequência com que bens culturais brasileiros são ilegalmente retirados do país justificou a elaboração da Red List Brasil, que inclui categorias inéditas, como paleontologia, artefatos religiosos de matriz africana, objetos etnográficos feitos com elementos da biodiversidade brasileira (cocares e adereços indígenas) e primeiras edições de livros e publicações de autores brasileiros, bem como, a título exemplificativo de histórias em quadrinhos, uma página da revista O Tico-Tico, publicada em 1905.
A presidente do ICOM, Emma Nardi, que é professora titular de Pedagogia Experimental na Universidade Roma Tre
125 PATRIMÔNIO
NO COMBATE AO TRÁFICO ILEGAL DE BENS CULTURAIS JULIANA MONACHESI
DOCUMENTO ELABORADO PELO CONSELHO INTERNACIONAL DOS MUSEUS AJUDA
VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023 FOTO: ADER GOTARDO/MAE-USP/DIVULGAÇÃO
(Itália) e diretora do curso internacional de pós-graduação a distância Standards for Museum Education, lançado por ela em 2014, explica em conversa com a seLecT_ceLesTe que o problema da restituição é uma das pautas centrais atualmente no Conselho Internacional de Museus. “Um dos objetivos do nosso plano estratégico é descolonização e, quando falamos em descolonização, falamos obrigatoriamente de restituição. O próximo número de nossa revista científica, Museum International, será todo dedicado ao tema da descolonização”, antecipa.
Em sua fala no lançamento da Red List Brasil, Nardi frisou que os itens presentes na Lista Vermelha de Objetos Culturais Brasileiros em Risco “não são as obras-primas dos mestres, mas geralmente obras de autores anônimos, populares, e por isso, altamente disseminadas”, e destacou uma escultura em terracota de Nossa Senhora da Conceição, das Minas Gerais do século 18 ou 19, o item de número 19, como um objeto de baixo valor financeiro, mas alto valor simbólico. “A padroeira do Brasil é Nossa Senhora da Conceição Aparecida, uma versão específica da Madonna da Concepção, muito ligada, aqui, ao mar e à pesca, objeto de devoção por todo o país. Desde 1994, a Unesco celebra, em 23 de agosto, o dia da lembrança do tráfico de escravos e sua abolição, que na pequena estatueta de Nossa Senhora é representado pelo dourado de uma fruta do cacau, a cor tanto da fruta quanto das riquezas que foram extraídas por meio da exploração do trabalho escravo”, diz Emma Nardi. A presidente do ICOM prossegue falando da “identificação sincrética pelos escravizados, para continuar a praticar seus credos, com as imagens disponíveis”, como ocorreu entre a Madonna da Concepção e Iemanjá, “deidade mariana, rainha dos mares, dos ventos da pesca, em particular na Bahia, terra dos pescadores. Na cidade italiana onde nasci, coloca-se uma coroa de flores no braço da escultura da Virgem da Concepção, que fica no alto de uma torre romana. Todos fazemos a mesma coisa: água, presentes, flores. A estatueta incluída na Red List e as muitas que correspondem a ela, portanto, representam ao menos duas culturas, não apenas a da supremacia branca, mas também a de um povo sincrético, que se
expressa em diferentes tipos de candomblé. Ela coloca em relação três continentes: Europa, África, América, e o que a torna tão preciosa é o fato de nos revelar um padrão cultural complexo”.


RETOMADAS
No lançamento, após as falas emocionadas das mulheres à frente da iniciativa, a ministra Margareth Menezes encerrou as celebrações dizendo, primeiramente: “O Brasil é o 26º na lista de países com maior número de objetos culturais roubados, que têm uma taxa de recuperação extremamente baixa. A Red List é uma conquista importante brasileira, que atuará de forma complementar às ferramentas do Ibram e do Iphan na proteção do nosso patrimônio cultural. O tráfico ilícito de bens culturais mexe com o testemunho do processo civilizatório do nosso povo”. Menezes anunciou a criação de um Comitê Nacional de Combate ao Tráfico Ilegal de Bens Culturais e felicitou os presentes, dizendo que a Red List Brasil é lançada no momento em que o Ministério da Cultura volta a assumir seu papel. Salientou a importância da preservação da memória para que seja possível construirmos o futuro. Agradeceu ao Museu da Língua Portuguesa pela exposição dedicada aos povos originários (Nhe’e Porã: Memória e Transformação, curadoria de Daiara Tukano, em cartaz até 23/4). A ministra destacou ainda que “o Brasil precisa reconhecer cada vez mais as maravilhas que esse povo com tanto sangue derramado fez e faz para preservar as suas culturas até o momento em que, simbolicamente, temos agora o Ministério dos Povos Indígenas”, e prometeu trabalhar para fincar as raízes da cultura no Brasil para que nunca mais o Ministério da Cultura saia do lugar.
Menezes finalizou o discurso de sua primeira agenda oficial em São Paulo como ministra declamando (quase cantando): Gigante pela própria natureza / És belo, és forte, impávido colosso / E o teu futuro espelha essa grandeza / Terra adorada / Entre outras mil / És tu, Brasil / Ó Pátria amada! / Dos filhos, das filhas deste solo, és mãe gentil / Pátria amada, Brasil! Viva a cultura do Brasil. Margareth Menezes, grande, imensa, devolveu-nos o Hino Nacional, juntamente com o orgulho de testemunhar a virada feminista no campo museal.
Escultura ritual de madeira do Orixá Xangô, Rio de Janeiro, 1880; à esq., pontas de flexa em diferentes tipos de rochas, várias regiões do Brasil, período pré-colonial; e artefato de placa triangular em cerâmica com furos, pintura vermelha e preta com motivos geométricos sobre engobo branco, Ilha Marajó, Pará, séculos 5-15

VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023
FOTOS: ROOSEVELT MOTA/MUSEU NACIONAL/DIVULGAÇÃO; MAE-USP/DIVULGAÇÃO

COLEÇÕES
EM
GERAIS CONVIDANDO NOVOS PÚBLICOS A PENSAR O QUE É, DE FATO, A ARTE CONTEMPORÂNEA
O TREM CORRE PELAS MARGENS E É PARA LÁ QUE EU VOU
UM ÚLTIMO ESFORÇO PARA MANTER COLEÇÃO DE ARTE POPULAR NO BRASIL, EXPOSIÇÕES OCUPAM CIDADES HISTÓRICAS DE MINAS
LUANA ROSIELLO
ADMITO: COM TODA A MINHA ARROGÂNCIA PAULISTANA, EXPOSIÇÕES OU EVENTOS CULTURAIS FORA DO EIXO RIO–SÃO PAULO ME DESPERTAM – NA FALTA DE UMA PALAVRA MELHOR – CERTA INSEGURANÇA. “Será que terá público?”, penso, entre outras dúvidas, sobre o porquê de não as realizar em locais de mais acesso e visibilidade. Mas não é novidade para ninguém que o mundinho das artes e, principalmente, seus agentes são exclusivistas, para não falar coisa pior. Entre paredes de cubos brancos, catálogos suntuosos e obras de arte “contemporâneas”, acreditamos estar à frente de tudo e de todos.
Mas, na primeira semana de fevereiro, felizmente, mordi minha língua. Acompanhei de perto as aberturas do projeto Arte nas Estações, idealizado pelo colecionador e gestor cultural carioca Fabio Szwarcwald, com curadoria de Ulisses Carrilho, além de produção e comunicação por uma equipe maravilhosa. As mostras levam obras da coleção do Museu Internacional de Arte Naïf, idealizada pelo francês Lucien Finkelstein, para cidades de fora do eixo Rio–São Paulo e distantes de capitais, com o objetivo de alcançar novos públicos e disseminar a produção de artistas populares.
O envolvimento de Szwarcwald e Carrilho com o museu, que abriga um dos maiores acervos de arte popular do mundo, começa em 2019, a partir da exposição-manifesto Arte Naïf – Nenhum Museu a Menos, realizada na Escola de Artes Visuais do (então presidido por Szwarcwald) Parque Lage, no Rio de Janeiro, que buscava difundir a importância desse conjunto de obras para o Brasil.

Mesmo após o fechamento da instituição, em 2016, por falta de recursos captados via leis de incentivo fiscal, e com a coleção ameaçada de deixar o território nacional, a vontade de expandir o que começaram na EAV continuou ecoando na cabeça do empresário e do curador, de forma que, em 2023, se juntam para a realização do Arte nas Estações. Com maestria, o projeto corre a todo vapor pelas margens do sistema da arte, ocupando, simultaneamente, três cidades históricas mineiras em locais como estações de trem e escolas, contribuindo, aos poucos, para o crescente movimento de virada institucional e patrimonial nas artes.
QUEM EU QUERO NÃO ME QUER
Entre um pão de queijo e um gole de café, Fabio Szwarcwald lança, durante a entrevista que concedeu a seLecT_ ceLesTe, a seguinte pergunta: “Por que não itinerar esta coleção e levá-la para lugares a que ninguém está indo?” O projeto intenciona celebrar a diversidade brasileira a partir de suas manifestações artísticas, levando cultura, história
131
FOTOS: ACERVO MUSEU INTERNACIONAL DE ARTE NAÏF DO BRASIL
Apocalipse O Quarto Cavaleiro Trazendo a Desolação, a Fome e as Feras (1982), de Kleber Figueira; na dupla de págs. anterior, O Clube das Mulheres (1994), de Dalvan
COM REPRESENTAÇÕES DE REBELIÕES
DE TRABALHADORES E NATUREZA AMEAÇADA, OS ARTISTAS REGISTRAM O PASSADO, MAS COM OLHOS JÁ NO FUTURO
e entretenimento para diferentes locais do país, sobretudo criando novos públicos pela interação com a população local por meio de uma abordagem educacional e acessível.
“Mas essa não é a intenção de quase todos os curadores atuantes hoje no sistema da arte?”, penso. Para que as mostras se destaquem, elas devem conter algum diferencial, um “tempero a mais”. Dito e feito. A exposição Sofrência, no Paço da Misericórdia, na histórica Ouro Preto, debruça-se sobre o amor, o prazer, o gozo e o sentimento, por um viés narrativo peculiar, a meus olhos: a música sertaneja. A curadoria de Carrilho toma a eterna Marília Mendonça (1995-2021), também conhecida como a Rainha da Sofrência, como dispositivo poético, estabelecendo diálogo com obras de artistas como Mabel, Odoteres Ricardo de Ozias e Gerson, ao espalhar, ao longo da mostra, banners com trechos de suas músicas e de outras cantoras do “feminejo” – gênero que enfatiza as mulheres em composições que tematizam, sem pudor, o ponto de vista feminino sobre amor, sexo, traição etc. Em uma via de mão dupla, Sofrência propõe a revisão histórica do termo arte Naïf – proveniente do francês, que significa ingênuo, sem malícia ou pecado –, deslocando artistas autodidatas do lugar de inferioridade imposto pela academia para posicioná-los como criadores, como qualquer artista contemporâneo. Em paralelo, define o sertanejo universitário como narrativa, desafiando o preconceito classicista em torno do gênero musical, unindo, ao mesmo tempo, dois públicos que, teoricamente, não se encontrariam. A própria expografia sugere, segundo Carrilho, encontros em um ambiente “divertido” em meio a cores vibrantes e cortinas de miçangas, tudo em torno de um sentimento comum, real, íntimo e verdadeiro: a sofrência.
ESSE ANO EU NÃO MORRO
O conjunto da mostra prova que artistas populares têm o poder da síntese e que pautavam, muito antes de o sistema abrir os olhos para o assunto, questões raciais, de classe e de gênero, nos fazendo questionar o que é, de fato, arte contemporânea. Com toda a arrogância colonial e eurocêntrica que o mundo da arte herdou, o sistema negligenciou essa produção,
À dir., Ogum (2002), de Mabel; abaixo, Não Enterrem a Natureza II - O Protesto (1995), de Dalvan

caracterizando-a como inferior, ou, como o próprio nome já insinua, ingênua, posicionando-a em segundo plano. A Ferro e Fogo, que ocupa a Estação Ferroviária de Conselheiro Lafaiete, convida o público a desconfiar dessa tal ingenuidade imposta à arte popular e perceber em cada fatura a densidade das denúncias presentes na exposição. Obras de Ozias, Dalvan e Aparecida Azevedo, datadas dos anos 1990 até 2000, denunciam a história extrativista do Brasil. Com representações de rebeliões de trabalhadores, uma natureza ameaçada e uma política dominada por militares, os artistas autodidatas registram o passado, mas com olhos já no futuro. Em um modo de ver e pensar surrealista, cada obra ali exposta prova que o popular é também massivo. Nesse sentido, o título da mostra faz referência à canção da dupla sertaneja Zezé Di Camargo e Luciano, que, ao marcar uma geração, narra os acontecimentos que assolam a vida do cidadão brasileiro, e ao livro A Ferro e a Fogo (1996), de Warren Dean, sobre a devastação da Mata Atlântica brasileira. A mostra é uma homenagem à insubordinação do povo brasileiro e dos povos originários que, ao longo de sua história, lutaram pelo que é seu de direito.
DEIXA A VIDA ME LEVAR
Entre o Céu e a Terra, em cartaz no Museu de Congonhas, na cidade homônima, abraça o fato e a ficção na busca por tornar esse sistema ainda mais complexo. Agora o visitante se depara com uma discussão ainda mais atual: a identidade brasileira a partir do imaginário cultural. Pinturas de Ozias, por exemplo, artista destaque da mostra, abordam questões identitárias da cultura brasileira, como o folclore e as tradições religiosas.
Partindo das representações pictóricas de divindades, seres mitológicos e figuras fantásticas, a mostra não apenas discorre sobre crenças espirituais, mas, sobretudo, gira em torno da ideia de que “um povo brasileiro” também depende da crença, independentemente de qual seja, para persistir. Fruto de uma miscigenação plural e violenta, a ideia de Brasil repercute até hoje preconceitos e verdades propagadas em mais de cinco séculos. Assim, a partir do imaginário dos artistas populares salvaguardados pela

132 VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023
FOTOS: ACERVO MUSEU INTERNACIONAL DE ARTE NAÏF DO BRASIL
coleção do Museu Internacional de Arte Naïf do Brasil, os cultos são muitos e variados, de Ogum a Jesus Cristo, do Lobisomem ao Papai Noel, dos rituais religiosos que marcam a passagem dos anos ao culto de imagens em museus, finalizando a trilogia de exposições recontando


nossa história por um viés, até então, encoberto. As três exposições vão itinerar durante seis meses pelas três cidades, acompanhadas de um amplo programa educativo que parte de um processo de escuta, para o diálogo e a construção coletiva com os públicos participantes. O projeto
tem como pano de fundo uma luta para manter a coleção no Brasil, uma vez que ela não apenas se encontra desalojada de sua antiga sede, mas também é cobiçada por compradores estrangeiros. Promover a visibilidade das importantes obras que a compõem, investigar as diferentes narrativas
da arte e do Brasil que ela possibilita contar e envolver uma diversidade de públicos com todas essas questões são as apostas dos organizadores nesse horizonte ideal que mantém no país, aberto e vivo, o seu patrimônio cultural e a sua própria história.
134 135 VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023
XXXXXXXXXXXXXX
FOTOS: ACERVO MUSEU INTERNACIONAL DE ARTE NAÏF DO BRASIL
Mulheres do Mangue (1963), de Gerson; à dir., A Noiva (1989), de Lia Mittarakis,
QUE VANTAGEM O BRANCO LEVA NAS ARTES?

RACIALIZAR O DEBATE DA ARTE BRASILEIRA É URGENTE. Isto afirmo eu, mulher branca de classe média, jornalista com pós-graduação, portanto, cercada dos privilégios da branquitude. Mas não o afirmo sozinha, falo juntamente com pensadoras como Cida Bento (Pactos Narcísicos no Racismo, 2002; O Pacto da Branquitude, 2022), Djamila Ribeiro (O Que É Lugar de Fala?, 2017), e Denise Ferreira da Silva (Homo Modernus: Para Uma Ideia Global de Raça, 2022), entre inúmeras autoras do feminismo negro que poderia citar – e seria uma longa lista –, cuja obra venho descobrindo ao longo do meu processo de letramento racial. O principal ponto de inflexão dessa pedagogia ocorreu, para mim, no curso sobre privilégio branco ministrado pela escritora Tatiana Nascimento (que recomendo vivamente), a que pude me dedicar no período de privilegiado isolamento social por causa da pandemia. Logo em seguida, li Branquitude: Estudos Sobre a Identidade Branca no Brasil, coletânea organizada por Tânia Mara Pedroso Müller e Lourenço Cardoso para a Appris Editora, em 2017. Da introdução deste livro retiro uma explicação objetiva da questão: Aimé Césaire define negritude como “a consciência de ser negro”, identificação que leva uma pessoa a assumir sua negritude, sua história e sua cultura. Como procedem as pessoas brancas na identificação de sua branquitude, sua história e sua cultura? “Um silêncio sobre a branquitude e as suas vantagens foi mantido por muito tempo diante do discurso sobre a negritude e a identidade negra”, escrevem os organizadores. Ou seja, enquanto o movimento negro se mobilizava em lutas antirracistas por meio do “conceito da negritude como plataforma política”, os brancos, prosseguem Müller e Cardoso, “não precisavam gritar e proclamar sua branquitude, pois o tigre não precisa proclamar sua 'tigretude'; ele apenas ataca silenciosamente quando sua sobrevivência o exige. São os outros, oprimidos negros, mulheres e homossexuais que precisam gritar e proclamar sua identidade”.
Em nome da desoutrização, conceito do curador camaronês Bonaventure Ndikung, é dever de todes racializar a branquitude, desmitificar sua história e sua cultura, para ser entendida não mais como a narrativa hegemônica, mas como o que de fato é: uma narrativa que se embasou na invenção
da ideia de raça para subjugar todas as pessoas não brancas. Ou bem, branco é raça tanto quanto negro ou amarelo, ou não avançaremos nas pautas sobre diversidade e pertencimento, justiça social e cultural. O Fogo Cruzado: que vantagem o branco leva nas artes? é a primeira matéria de uma série em que seLecT_ceLesTe vai trabalhar ao longo de 2023 para debater as questões raciais no âmbito da arte brasileira. Para a seção, em que vários entrevistados respondem a uma única pergunta, convidamos 45 pessoas (em sua maioria brancas) da cadeia produtiva das artes – artistas, curadores, galeristas. Pela primeira vez, desde que a seção Fogo Cruzado foi lançada, em 2013 (seLecT #10), tivemos um número mais expressivo de nãos do que de sins. Aos oito entrevistades a seguir, nosso muito obrigado pela coragem de encarar um tema delicado e urgente. Em tempo, caso a leitora esteja se perguntando, sim, convidamos também artistas e curadores negros para responder à enquete. Declinaram com elegância. Acontece que pensadores negros produzem conhecimento sobre a branquitude no Brasil há, no mínimo, 20 anos (todos os livros acima citados são assinados por autores negros), enquanto nós, brancos, mal começamos. Entendo que os nossos convidados tenham outras pautas mais urgentes nas quais se deter que não esta. A urgência de que falo na primeira linha deste texto, enfatizo, é branca. (Colaboraram Luana Rosiello, Eloisa Almeida e Paula Alzugaray)
Uma das viradas que o meio cultural testemunha em anos recentes diz respeito à racialização do debate na arte, com pautas identitárias dominando as esferas da produção e da pesquisa; daí a pergunta que intitula a seção, sobre os privilégios que sustentam o predomínio da branquitude na arte
ÉLLE DE BERNARDINI ARTISTA
Todas! A arte de pessoas brancas sempre foi mais difundida e discutida que a arte de pessoas não brancas, pois os brancos são vistos como sujeitos universais e não precisam afirmar sua identidade por meio da arte. Desse modo, a arte negou espaços aos negros, pois, a meu ver, entendia que somente os brancos é que falavam de um ponto de vista universal, o que é uma falácia, uma vez que vivemos em um país colonizado, e o discurso universal é privilégio eurocêntrico. De modo que a produção artística dos negros é vista como uma manifestação sem relevância universal dentro do sistema das artes que se pauta na continuidade da própria história da arte e não na afirmação de identidades. A arte de artistas negros não visa, no primeiro momento,
CAUÊ ALVES
CURADOR
De saída, o artista branco já conta com o privilégio de ser branco, beneficiando-se do racismo estrutural. Ou seja, de não ser exterminado quando jovem na mesma proporção que os negros. Estatisticamente, o branco sai na frente porque não precisa, na mesma proporção que o negro, trabalhar enquanto estuda e porque possui maior acesso a boas escolas. Na sociedade brasileira em geral, há poucos negros em posição de poder e no campo da arte isso não é diferente.
romper cânones, mas expor sua realidade e história próprias e, desse modo, historicamente ela é colocada na caixinha das representações identitárias e não na continuidade da história da arte. Os brancos não precisam se afirmar como brancos, e podem falar sobre o que quiserem. Já os negros, pessoas trans e mulheres, precisam antes afirmar a legitimidade de suas vidas, e isso aparece em suas produções artísticas. O mercado está interessado em tendências e assuntos, não em afirmar identidades. E a própria história da arte quer a continuação de si mesma, de modo que toda a arte identitária recebe menos atenção, pois, segundo alguns, ela está preocupada com a vida do artista, não com a representação do mundo. O que é uma grande falácia que precisa ser mais bem discutida.

136 VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023
FOTOS: DIVULGAÇÃO FOTO: CORTESIA DO ARTISTA
FOGO CRUZADO
JULIANA MONACHESI
GUSTAVO VON HA ARTISTA



O artista branco pode ser formalista, conceitual, pode ser o que quiser sem precisar racializar o trabalho, especialmente no Brasil, onde essas questões ainda estão longe de ser resolvidas. Acredito que este seja um dos pontos de inflexão que precisam ser transformados nas artes, pois o pacto da branquitude permanece intacto nesse sistema. Nesse sentido, vale olhar com atenção para a coleção de Pamela J. Joyner e Alfred J. Giuffrida, que acumulou o que é indiscutivelmente a maior coleção mundial de obras abstratas de artistas pretos. São centenas de obras, abrangendo quatro gerações. Jack Whitten fez pinturas com rodo na década de 1970 – pelo menos uma década antes de Gerhard Richter. Apenas para citar um exemplo dessa coleção. Desde a década de 1940, os artistas afro-americanos fazem abstração transformacional. Por que não aparecem em destaque nos livros de história da arte mundial?
FABIO MORAIS

ARTISTA
A arte lida com códigos estéticos e históricos vindos da cultura branca do Norte global, e isso estabelece uma vantagem epistemológica branca que apaga outras epistemes. Já sobre vantagens individuais, elas apoiam-se no racismo estrutural. Historicamente, ser branco é condição “natural” – aspas pontuando a violência da naturalização – para ser autor-artista com voz pública ou um agente que promova a circulação de vozes (curadoria, crítica, academia, imprensa, instituições, mercado etc.). Na metáfora da corrida na qual brancos largam metros à frente de não brancos, creio que a questão de classe se funde com a racial, agravando-a. Parte da produção em arte é operada por um mercado de luxo para o 1%, por um circuito cujo modelo espetacular de exposições gera altos custos para instituições e artistas, ou por uma academia onde as classes média e alta predominam. Isso tudo circunscreve a arte em um campo econômico e profissional elitizado, no qual, “naturalmente”, o branco leva vantagem racial potencializada pela de classe, já que as camadas médias e altas da pirâmide social brasileira são majoritariamente brancas. Mesmo questionada por debates e políticas antirracistas e de reparação, a predominância branca no circuito de arte ainda é um fato.
BRUNO DUNLEY
ARTISTA E FUNDADOR DA JOULES & JOULES
As vantagens de pessoas brancas nas artes visuais configuram-se em um concentrado de problemas estruturais da formação histórica, racial, social, econômica e política da sociedade brasileira. Heranças da desumanização de corpos pretos e indígenas realizada pela escravidão brasileira, essas questões se manifestam de forma subjetiva e cultural em toda a sociedade, mas, no caso das artes visuais, se materializam de forma acentuada e peculiar, devido à alta concentração dos meios de formação, produção, difusão e destino dos trabalhos nas mãos de uma elite econômica, institucional e mercadológica majoritariamente branca.
Essa parcela minúscula da sociedade, desacreditada em relação ao papel do Estado e com dificuldades para compreender a importância de um projeto cultural de país que perpassa fundamentalmente a articulação e elaboração de políticas públicas estruturais, amplas e saudáveis do ponto de vista econômico, simbólico e psicossocial, realiza uma espécie de sequestro cultural e econômico que não é visto em nenhuma outra área artística nacional, como música, literatura, cinema e teatro, por exemplo.
Os efeitos colaterais dessas concentrações e dessa visão política e mercadológica apequenada só fazem aprofundar uma cultura classista, racista e de pensamento colonizado que se orgulha por criar distinções sociais através de atitudes de admiração tóxicas e excludentes. Isso também é visível entre os artistas quando acreditam egocentricamente em manifestações de genialidade, excentricidade e outras bobagens; e diante da ausência de institucionalidades e mercados mais amplos, passam mais tempo disputando entre si de forma velada espaços, relações e recursos do que se unindo e articulando, com outros agentes culturais e mercadológicos, maneiras de fazer propostas para vereadores e deputados de fortalecer e potencializar políticas culturais e fiscais mais amplas e efetivas para as artes visuais e o mercado de arte. Não se ocupar com essas questões é um dos maiores privilégios da pessoa branca nas artes. Isso tem se transformado positivamente, mas não sem as lutas históricas das populações não brancas. Luta que também precisa ser branca, mas sem a ganância do protagonismo que nos guiou até o presente momento e sem a ignorância e estupidez da exacerbada e inconsciente autoconfiança branca. Por isso, acredito que só há um caminho: o conflituoso e constante exercício de cada pessoa se entender como cidadão brasileiro e do mundo e constantes articulações e elaborações coletivas de políticas. O ar ainda é público, mas respirar não pode ser privilégio de poucos.
HENRIQUE OLIVEIRA ARTISTA
Numa das primeiras vezes que visitei o MoMA, conheci o trabalho de Martin Puryear. Durante muitos anos acompanhei sua produção, presumindo, ainda que inconscientemente, que ele fosse branco, até que um dia vi uma foto do artista. Isso revelou um preconceito estrutural arraigado em mim e também me levou a pensar que nas artes plásticas existe esse fato – a obra não necessariamente revela como é o artista. Vantagem ou desvantagem?
Eu poderia responder à pergunta de ambos os pontos de vista. Se, no Brasil, eu sou indiscutivelmente branco, o mesmo não posso afirmar morando em Londres. Acho que mais do que uma questão de vantagem, o conceito de arte no Ocidente moderno nasceu na Europa com a ascensão da burguesia. Para fazer arte é preciso antes de mais nada tempo, algo que a classe trabalhadora não tem, e as diferenças de classes também refletem, sobretudo no Brasil, predomínios de grupos raciais. O que estamos vendo hoje é um processo de incluir outras formas de pensar a arte e as culturas que vêm de fora desse eixo etnogeográfico e social. Se, por um lado, isso reflete um amadurecimento de sociedades que há apenas 150 anos escravizavam africanos, por outro, também não deixa de refletir a lógica dessa constante busca por novidades que funda o nosso conceito moderno de arte. Por isso espero que estas ondas de inclusão sejam um arauto de mudanças definitivas, não apenas mais uma moda, como muitas que vêm e vão no mundo da arte.
138 139 VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023
FOTOS: DIVULGAÇÃO
JOÃO FERNANDES
DIRETOR ARTÍSTICO DO INSTITUTO MOREIRA SALLES
Importa, em primeiro lugar, questionar aquilo que chamamos de arte. A arte não é uma realidade universal, ao contrário do que é um pensamento dominante. Existem e sempre existiram sociedades que não têm nem nunca tiveram tal palavra, ou qualquer outra correlata, para denominar tudo quanto associamos a esse termo, nas línguas em que ele existe ou encontra tradução. Num planeta em que estamos cada vez mais conscientes das violências da história e do presente, que nos trouxeram a um estado que ameaça a nossa própria sobrevivência, assim como a sobrevivência dos mundos que habitamos, é também hoje imperioso interrogar a “arte”, tal como interrogar o mundo, a partir da consciência de uma racialização da sua “história” ou histórias, assim como de suas práticas, ideias, sistemas de poder e de legitimação, economias, mercados, colecionismos e instituições, públicos, agentes e profissionais que revelam esse mundo como tão injusto e desigual. A arte, a que comumente nos referimos, tem sido um conceito “branco”, criado, narrado e gerido por pessoas brancas, no contexto de processos históricos nos quais a branquitude sempre procurou ser dominante, declarando-os como “universais” para mais eficazmente ampliar suas formas de dominação. A pergunta “Que vantagem o branco leva na arte?” não deixa de ser também uma pergunta “branca”. As pessoas negras sabem bem reconhecer as vantagens de que as pessoas brancas se beneficiam só por serem brancas, nas artes como em várias outras atividades. São as pessoas brancas que não têm consciência dessas vantagens, por as terem naturalizado em suas experiências de vida, por as terem camuflado em sistemas de mérito que merecem todas as suspeitas e dúvidas, quando se caracterizam por sua natureza excludente. As pessoas negras ou indígenas que trabalham com artes têm uma consciência bem nítida de como são poucas aquelas entre elas que são reconhecidas e legitimadas enquanto artistas, galeristas, produtoras de reflexão crítica, proprietárias de coleções ou profissionais em instituições ou na miríade de profissões que a industrialização das artes tem gerado. Por outro lado, tal questão se revela igualmente uma “questão branca” ao presumir um sistema de vantagens e desvantagens numa realidade que não interroga a partir de tudo quanto poderia tornar possíveis numerosas outras interrogações, se tivermos em devida conta a pluralidade e a diversidade das artes e de suas intersecções, equivalentes a uma pluralidade e diversidade de culturas cada vez mais reconhecíveis em suas identidades e diferenças. No entanto, mesmo não considerando a diversidade das práticas artísticas, a pergunta formulada interroga as condições que os seres humanos possam ter para protagonizarem tais práticas, assim como para coexistirem numa igualdade de direitos e possibilidades nos sistemas de visibilidade e de legitimação que as originam ou que delas se apropriam. Com todas as ressalvas explicitadas, trata-se de uma questão relevante, quando dirigida a pessoas brancas, sobretudo porque as confronta com o muito que há por fazer para que as artes não sejam também um jogo de inclusões e exclusões em que o fator racial seja determinante. A consciência da desigualdade nos sistemas
artísticos, que sempre foram caracterizáveis por regras de inclusão e de exclusão pouco transparentes, cresceu significativamente a partir da evidência da violência extrema que o racismo ainda perpetua no mundo contemporâneo. Não é por acaso que os museus, coleções e feiras de arte nos Estados Unidos e um pouco por todo o mundo só abriram decisivamente as suas coleções e hierarquias nas suas equipes a partir do assassinato ignominioso de George Floyd... Talvez mais urgente do que interrogar que vantagem leva o branco num sistema que a branquitude criou para usufruir das vantagens desse sistema, mais subversivo do que questionar as vantagens do branco num “mundo da arte” criado à imagem e semelhança da sua branquitude, seja questionar os próprios sistemas das artes nos modos como criam e estruturam suas realidades. E fazê-lo a partir de outros olhares, de outras culturas, de outros sistemas. Sobretudo num país como o Brasil, um território em que o anjo da história de Walter Benjamin pode voar juntamente com as presenças da sankofa africana, com os xapiris da floresta, um local onde existem, resistem e se desenvolvem ancestralidades nas culturas indígenas e afrodescendentes que poderão ser tão revolucionárias para o que chamamos “artes” quanto o foi a apropriação de outras culturas pelos “artistas de vanguarda” brancos, para assim se libertarem de uma história da arte ainda marcada pelas questões da mimese ou da perspectiva que tinham estruturado e colonizado um mundo em que se sentiam dissonantes, apesar de também serem exemplos dele. Seria tempo de interrogar também as desvantagens que o branco leva na arte, quando pouco aprendeu num país onde tais presenças permanecem tão vivas... Claro que para isso serão sempre cruciais o reconhecimento e o acesso, em todos os processos artísticos e culturais, das numerosas pessoas que da condição de sujeitos de suas próprias culturas foram no passado e ainda são no presente excluídas dos poderes de decisão que a todas, todos e todes dizem respeito, nas universidades, nas instituições, nos mercados, na mídia, em todos os lugares de vida e de trabalho onde essa discussão possa acontecer, como nesta revista que em boa hora se lembrou de formular uma pergunta que pode levar a muitas mais, porque necessita se juntar a muitas outras interrogações que reúnam pessoas negras, indígenas, brancas, asiáticas, pessoas de todos os gêneros e de todas as orientações sexuais existentes, em conversas urgentes e necessárias sobre as suas identidades e diferenças nas suas culturas e práticas artísticas. Para todas as pessoas brancas que vivem e trabalham nos sistemas das artes e da cultura é hoje fundamental reconhecer o privilégio que a sua branquitude, o seu gênero ou a sua orientação sexual lhes possam ter conferido para fazer o que fazem, de modo a adicionar a isso que fazem algo de fundamental para que esse privilégio encontre o seu fim, abrindo espaço para muitas outras pessoas que poderiam estar ali no lugar delas, mas que foram excluídas de tal possibilidade nas suas vidas pela cor de sua pele, por sua situação econômica, por seu gênero ou por sua orientação sexual. Se aquilo que chamamos de arte e cultura sempre foi espelho dos sistemas de poder dominantes, nas suas ilógicas lógicas de inclusão e exclusão, forçoso é hoje que as artes e as culturas se emancipem desse passado e desse presente, reconheçam que não podem ser mais reflexos de suas injustiças, para que viver igual e livremente possa finalmente ser a referência em vez do que levar vantagem ou desvantagem nos distintos modos desse viver.
TADEU CHIARELLI CURADOR
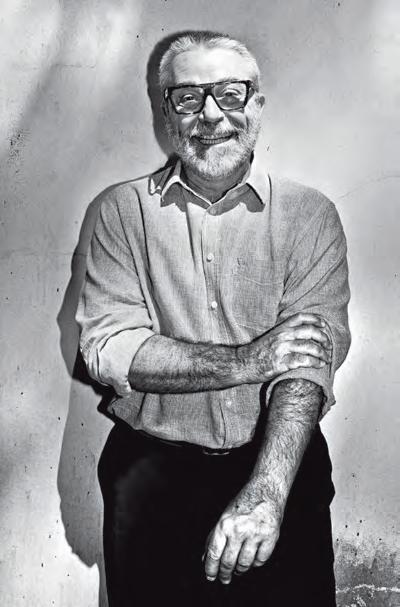
Circunscrevendo a situação ao Brasil, o privilégio (do) branco na arte é o privilégio (do) branco em todas as outras áreas da sociedade. Ser branco no país, de saída, é ter mais que meio caminho andado para se fazer qualquer coisa – e sem que nenhum policial corra atrás de você! Ser asiático, também. Talvez menos do que ser branco, porém, mais do que suficiente para também se dar bem: durante os 38 anos em que dei aulas na USP, a esmagadora maioria de meus estudantes era de euro-descendentes ou de origem asiática. O número de estudantes pretos durante todos aqueles anos não chegou a uma dúzia. Isso diz tudo – ou, pelo menos, muita coisa – sobre a questão.

140 141 VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023
FOTOS: DIVULGAÇÃO
THAIS RIVITTI
CURADORA E DIRETORA DO ATELIÊ 397
Entendo a pergunta de vocês como um convite a pensarmos sobre o privilégio branco no campo das artes. Mais do que vantagens, termo que designa algo discernível e enumerável, o privilégio branco atua num lugar que é mais difícil nomear. Na esfera da percepção daquilo que é sentido, daquilo que é esperado. É, sem dúvida, necessário reconhecê-lo de saída. Nesse sentido, dou alguns exemplos dentre outros tantos: meu corpo, mesmo fora dos padrões, não causa estranhamento em ambientes de arte, ao contrário do que acontece com alguns colegas racializados que imediatamente são percebidos e destacados como diferentes. Não se espera que eu, como curadora, fale de um tema ou questão específica em meus projetos de arte, enquanto, em relação a curadores pretos, há sempre uma expectativa de que tragam para o debate a perspectiva racial: enquanto eu sou vista como “uma curadora”, minhas colegas são “curadoras negras”. Na relação com instituições e demais agentes que eventualmente me contratam, a minha impressão é de que há uma relação mais clara de prestação de serviço, baseada nas competências e demandas de cada parte. Já colegas pretos se deparam, algumas vezes, com uma expectativa de gratidão pela oportunidade por parte de seus empregadores. Muitas vezes isso vem juntamente com o fato de que suas presenças nas equipes e nos projetos são simbolicamente trabalhadas pelas pessoas e instituições contratantes como a referendar certa imagem de combate ao racismo, algo que muitas vezes não se realiza na prática cotidiana desses trabalhos. Dito isso, tenho me perguntado sobre como colocar essas questões todas, que são amplamente sentidas, mas parcamente reconhecidas, em debate hoje. Um dos pontos passa por tentar entender se posso, devo ou tenho legitimidade para contribuir com esse debate. Se sim, como acredito, pois a meu ver a batalha pela igualdade tem de ser de todos, em que posição ou a partir de que contexto posso me colocar. São perguntas em aberto. Neste enorme processo de educação racial que estamos vivenciando (quer reconheçamos ou não, ele está aí), me pergunto, voltando ao início desta conversa, sobre as peculiaridades do campo da arte. É um campo marcado por um elitismo inegável, mas também aberto a questionamentos e revisões constantes. Um lugar onde a concentração de renda, tão definidora de nosso país, se expressa a todo momento. De um lado, o grande capital tão importante para a cultura e, de outro, a precarização dos trabalhadores da área que atingiu níveis altíssimos nos últimos anos. As desigualdades na arte são brutais e muitas vezes sinto que posso fazer muito pouco. Mas aposto bastante no trabalho coletivo e colaborativo e em sua capacidade de mobilizar essas questões maiores e alcançar mais pessoas. Há um processo que recoloca no presente a discussão sobre a igualdade e é preciso dizer claramente de que lado estamos.

> CURSOS SELECT
LABORATÓRIO DE ESCRITA CRÍTICA E EDITORIAL
PAULA ALZUGARAY, LEANDRO MUNIZ E NINA RAHE

INÍCIO 13 DE ABRIL QUINTAS-FEIRAS, ÀS 19H
INSCREVA-SE EM ZAIT_SELECT / www.zait.art
ONLINE PRESENCIAL
INÍCIO 11 DE ABRIL
TERÇAS-FEIRAS, ÀS 19H30
INSCREVA-SE EM revistaselectceleste@gmail.com

142 143 VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023
FOTO: DIVULGAÇÃO : CONHECIMENTO
COM
POR MONTAGEM
NESA MENA BARRETO ATLAS MNEMOSYNE
COM
#FLORESTAPROTESTA
DESDOBRAMENTO DA SÉRIE BOCA DO INFERNO (2021), EXIBIDA NA 34ª BIENAL DE SÃO PAULO, O CARTAZ CARBONO (2023) FOI DESENVOLVIDO POR CARMELA GROSS A CONVITE DA SELECT_CELESTE, PARA A SÉRIE #FLORESTAPROTESTA
CARVÃO – OU BRASA – É UMA ASSOCIAÇÃO ETIMOLÓGICA AO TÍTULO DO CARTAZ. Impresso a partir da reprodução digital de uma das monotipias da série exposta na Bienal, a mancha escura adquire aqui mais uma camada de significado. Premeditado por Gross, o borrão alude à lava, ao fogo e à intensidade da matéria dos vulcões, reportando-nos ao violento estado das florestas no Brasil. A destruição de territórios indígenas, de hectares assolados pela extração ilegal de madeira, dá lugar à brasa destrutiva das chamas, restando as sombras das cinzas. Contraditório, o elemento químico carbono é, ao mesmo tempo, responsável pelas alterações climáticas do dito progresso e elemento essencial para a existência de todos os seres vivos. Boca do Inferno anuncia o desespero, mas também saídas possíveis do colapso. O cartaz teve pré-lançamento na abertura da exposição Carimbos, individual de Carmela Gross no Instituto de Arte Contemporânea (IAC), que apresenta a série homônima realizada entre os anos de 1977 e 1978.

SELECT.ART.BR JUN/JUL/AGO 2020 144 PROJETO
CARBONO 2023, Carmela Gross
PROJETO
VIRADA CRÍTICA
SÃO
PAULO UM SÉCULO DE AGORA PARA CONSTRUIR UM NOVO FUTURO
Obra do coletivo Revolução

Periférica é um convite à reflexão sobre outros imaginários de Brasil, para além de um eixo branco, patriarcal e sudestino

CAROLLINA LAURIANO
Em 2022, uma série de exposições – institucionais e comerciais – debruçou-se em promover uma reflexão sobre o centenário da Semana de Arte Moderna, realizada na cidade de São Paulo entre os dias 13 e 18 de fevereiro de 1922. Antes
de avançar nas reflexões propostas por tais mostras, é preciso compreender o contexto em que a manifestação artístico-cultural estava inserida. Em 1922, o Brasil completava 100 anos de sua Independência e 34 anos da abolição da escravidão. O mundo vivia o pós-Primeira Guerra Mundial. Nessa conjuntura, interessava aos intelectuais que organizaram o evento pensar como o Brasil havia saído desses processos históricos, a partir de uma perspectiva de incorporação de tais questões sociais dentro de um viés de arte, apoiando-se em um pensamento nacionalista que buscava construir uma identidade artística genuinamente brasileira, em oposição à procura pela perfeição promovida pelas academias de Belas Artes. Se, por um lado, a Semana de Arte torna-se um marco cultural pela sua ruptura com as normas estéticas acadêmicas, o que, inclusive, desagradou aos intelectuais conservadores de São Paulo, por outro, é preciso pensar que tais discussões não ultrapassaram os limites geográficos da própria cidade. E foi esse caminho que as diversas exposições que se criaram para pensar os 100 anos da realização do evento trilharam. Em 2022, foi preciso olhar para todo o seu contexto e pensar que, embora seja importante reconhecer o pensamento implicado na construção da Semana de Arte, existiam ali questões abissais em relação à própria noção de uma construção de identidade nacional. Mas não somente. A começar pelo famoso retrato dos participantes da Semana de 1922, formado apenas por homens brancos, é preciso ater-se a qual história
Um Século de Agora Até 2/4/23, Itaú Cultural, Av. Paulista, 149, www.itaucultural.org.br
estaria sendo contada naquele momento e como ela implicava uma história de ausências, não apenas geográficas, mas identitárias. A priori , a Semana de Arte Moderna de 1922 precisa ser compreendida como uma semana branca, masculina e paulistana. Posto esse panorama introdutório, volto para analisar a exposição Um Século de Agora, inaugurada em novembro de 2022 no Itaú Cultural, que foi uma das últimas do ano a trazer o contexto da Semana de Arte para uma discussão institucional. Mas, o que poderia parecer um atraso de calendário – já que a grande maioria das exposições se concentrou no primeiro semestre do ano, uma vez que o centenário foi celebrado em fevereiro –, este fato em nada impactou a força que a exposição tem. Muito pelo contrário, já que a mostra se propõe a “expandir os horizontes e trazer novas narrativas para este século”, como escrito no texto de divulgação da instituição. Parece interessante começar o ano de 2023 com tal exposição em cartaz, como um lugar de lembrar que todas as discussões propostas ao longo de 2022 não foram meros revisionismos históricos, mas um caminho que precisa ser incorporado como definitivo dentro da história da arte brasileira.
PERIFERIA SEGUE VIVA
Com curadoria compartilhada entre Júlia Rebouças, Luciara Ribeiro e Naine Terena, Um Século de Agora reúne 25 artistas e coletivos para apresentar um panorama atual do que vem sendo realizado enquanto arte e cultura no território nacional, incorporando diferentes vivências e experiências sociais, culturais, políticas e geográficas em sua proposta discursiva. Logo
FOTOS: ANDRÉ SEITI / ITAÚ CULTURAL
149
XXXXXXXXXXXXXX
VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023
Obras da Revolução Periférica em dois momentos da exposição; na pág. a seguir, Almoço de Garis (1994), de Dalva de Barros
CRÍTICA
acima, falei sobre a Semana de Arte ser compreendida como uma semana paulistana, mas é preciso incorporar outro aspecto sobre ela, de ter sido um evento criado por uma elite intelectual. Por isso me interessa pensar a escolha da obra do coletivo Revolução Periférica como o trabalho que recebe o público na instituição. A inversão de lógica já começa como um convite à reflexão do que esperar dos três andares que abrigam a mostra. Na bandeira, a frase “Periferia segue viva” evoca os atos de resistência de tudo aquilo que não orbitava enquanto centro de uma história tida como oficial, sendo esse centro não necessariamente algo geográfico, mas também subjetivo.
Se a obra composta pelo coletivo nos coloca em outra perspectiva de como enxergar não somente a exposição, mas também as possibilidades de futuro do cenário artístico como um todo, a instalação da artista pernambucana Amanda Melo da Mota, que recepciona o público no primeiro andar, também funciona como uma passagem simbólica, oferecendo um lugar de cura tanto para corpos quanto para a própria natureza, outra instância que tem sido pensada em um contexto decolonial.

DESEJO DE CONSTRUÇÃO
Cura também é um conceito presente nas fotografias da artista, poeta e filósofa abigail Campos Leal, que recria um imaginário para divindades ancestrais em um cenário pós-fim do mundo. Em um contexto de apagamentos sobre corpos dissidentes, a artista aponta que, apesar de toda tentativa de invisibilização histórica, tais vozes hão de ressuscitar para sempre, e sempre. Esses pilares são extremamente importantes para compreendermos as várias narrativas propostas pelas curadoras. No entanto, a mostra centra-se em apresentar trabalhos criados, em sua grande maioria, em 2022. Ou seja, buscando compreender o agora enquanto desejo de construção de um novo século que dê conta de abarcar novos imaginários de Brasil. Essa noção de mudar a perspectiva de eixos percorre os três andares da mostra, como na instalação de Sara Lana, localizada no segundo subsolo, que joga luz sobre a oralidade como forma de preservação das histórias de um Brasil profundo. A obra não somente valoriza esses conhecimentos em relação aos grandes centros urbanos, mas, novamente, inverte um sentido de como esses espaços precisam se abrir a e enaltecer cada vez mais saberes ancestrais, discurso presente também na obra do Coletivo Mato Grosso, que reflete sobre o modelo de ocupação e desenvolvimento de monoculturas para a produção de commodities, e como resgatar práticas tradicionais como forma de sobrevivência.
Assim, a exposição mostra como precisamos repensar o país para além de um eixo branco, patriarcal e sudestino, pois, se queremos construir uma identidade genuinamente brasileira, é preciso que o Brasil esteja disposto a conhecer o próprio Brasil. Mas não somente. É preciso saber se há o desejo de abraçar essa pluralidade e conviver com novos protagonismos.
TEATRO
MULHERES NA LINHA DE FRENTE
Adaptação teatral do romance

Parque Industrial, de Pagu, apresenta condições de trabalho de mulheres que ainda reverberam hoje
NINA LINS
Onze mulheres em cena. Homens manequins, homens objetos. Narrativas se constroem, narrativas se dissipam. No plano de fundo, projeções de Rosa Luxemburgo, Pagu, Dilma e Marielle se misturam com as atrizes. Mulheres se misturam, tempos se misturam, músicas se misturam, imagens se misturam.

O romance proletário Parque Industrial (1933), da escritora e ativista política Pagu – sob o pseudônimo de Mara Lobo –, ganha atualidade na adaptação teatral da diretora Gilka Verana, que esteve em cartaz até o dia 16/2 na Oficina Oswald de Andrade. Condições de gênero e classe de mulheres trabalhadoras do bairro do Brás, em São Paulo, no início do século 20 reverberam as condições precárias de trabalho que as mulheres ainda enfrentam na atualidade. Publicado dez anos depois da Semana de 1922, o romance marxista de Patrícia Galvão é um dos marcos de estética e política na literatura brasileira. Vanguardista e revolucionário, o texto é
carregado de vivências do Partido Comunista e de proletários acompanhadas por frases curtas e diretas que imprimem o ritmo industrial acelerado.
A peça segue a forma do texto, com cenas descontinuadas do cotidiano das trabalhadoras que parecem colagens de várias situações que se juntam e mostram o contexto de precarização do trabalho industrial. Com elenco e equipe só de mulheres, os papéis em cena são intercambiáveis, não há protagonistas nem heroínas. Os homens são os objetos, não os sujeitos. A presença masculina aparece na forma de cadeiras, máscaras e texto escrito, paletó, gravata, pênis gigante de espuma como um totem flácido.
A dramaturgia se estrutura em camadas: a primeira é a narrativa do romance pelo coro de operárias; em seguida as projeções em vídeo de documentos históricos diversos do presente e passado, desde cartazes e cenário de São Paulo dos anos 1930 até depoimentos de Dilma durante o impeachment e de Marielle no dia 8 de março; a música ao vivo, presente em todas as cenas; e por fim, a camada Pagu como personagem, através de fragmentos de seus poemas e artigos. Literatura, dramaturgia, cinema e música se entrelaçam nessa polifônica montagem. As músicas e projeções misturam constantemente elementos do passado e do presente, embaralhando a noção de tempo quando se afastam de um tempo cronológico e mostram um tempo congelado – como os figurinos sintéticos que poderiam ser usados tanto nos anos 1930 quanto agora. As discussões sobre machismo, exploração da mulher, assédio no trabalho, violência doméstica e desigualdade de classe e gênero do romance de 1933 ainda permeiam a participação feminina no cenário brasileiro atual. Depois de 90 anos, a peça apresenta uma condição próxima à das mulheres, trabalhadoras e artistas de hoje, e o modo como o protagonismo feminino ainda enfrenta as mazelas produzidas pelo capitalismo, refletindo uma situação de trabalho precarizada não presente somente nas fábricas, mas em outros contextos.
Na medida em que a estrutura de produção artística e cultural contemporânea está inserida na lógica do mercado e da produtividade, a condição de trabalho nesse meio torna-se cada vez mais intermitente e incerta. Ainda com as particularidades do contexto trabalhista do romance Parque Industrial nos anos 1930 e da adaptação teatral em 2023, a dramaturgia também provoca a reflexão a respeito do próprio trabalho no campo da arte hoje. As vozes femininas da peça junto à voz de Pagu instigam o confronto em uma discussão que coloca as mulheres na linha de frente. Mulheres como sujeitos da luta anticapitalista.
FOTO: DIVULGAÇÃO
151 VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023
Cena de Parque Industrial com direção de Gilka Verana
CRÍTICA
Parque Industrial Encerrado, Oficina Cultural Oswald de Andrade Rua Três Rios, 363 –Bom Retiro
NADJA, AS MULHERES E A FICÇÃO
Escrito na primeira pessoa, clássico surrealista de André Breton chama atenção para o lugar que a mulher ocupa na arte e na literatura

 PAULA ALZUGARAY
PAULA ALZUGARAY
Em outubro de 1928, Virginia Woolf foi convidada a dar uma palestra na Arts Society, do Newnham College, faculdade frequentada por mulheres dentro da Universidade de Cambridge. O tema: as mulheres e a ficção. “‘Eu’ é apenas um termo prático para alguém que não tem existência real”, começava a autora, afirmando poder ser chamada de Mary Beton, Mary Seton, Mary Carmichael, “ou qualquer outro nome que lhes agrade – pouco importa”. Com essa proposta, a autora britânica não estava apenas assumindo a condição de anonimato que cabia às escritoras, mas vestindo uma identidade coletiva e afirmando que a literatura produzida pelas mulheres de classe média que haviam começado a escrever no fim do século 19 não surgiu como evento isolado e solitário, e sim como resultado de muitos anos de “pensamento comum”. Pode-se entender a palestra de Woolf, editada posteriormente na forma do ensaio Um Teto Todo Seu (1929), como um antecedente, na literatura, do que o coletivo Guerilla Girls faria no campo das artes visuais a partir dos anos 1980 (Do Women Have to Be Naked to Get into the Museum?): ousar contabilizar a diferença da atividade criativa entre mulheres e homens. Em uma rápida pesquisa nas bibliotecas de Oxford e Cambridge, as duas universidades mais prestigiadas do Reino Unido, Woolf concluiu que mulheres não escreviam livros sobre homens, que as mulheres eram muito mais interessantes para os homens do que o contrário. “Vocês têm ciência de que são, talvez,
FOTOS: DIVULGAÇÃO
LIVRO
152 CRÍTICA 153
VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023
Seus Olhos de Avenca, colagem apresentada na página 89 do livro; na pág. à esq., desenhos atribuídos a Nadja no romance de André Breton
o animal mais debatido do universo?”, perguntou para a plateia feminina. No mesmo ano em que Virginia Woolf palestrava acerca da posição que a mulher ocupava na sociedade patriarcal britânica, do outro lado do Canal da Mancha, André Breton publicava na França Nadja (1928-1963), obra central do projeto surrealista de desafiar os paradigmas da racionalidade, implantando como método o sonho, a sexualidade, o acaso objetivo. No momento de sua publicação – e mesmo a reedição, revista pelo autor, em 1963 –, a obra revolucionou por uma linguagem multifacetada que incorporava ao mesmo tempo as qualidades de diário confessional, crônica, poesia e romance. Breton escreve na primeira pessoa e estabelece com sua protagonista um jogo especular, projetando nela uma dimensão abstrata do próprio eu. O fundador do movimento surrealista começa sua narrativa com a pergunta “Quem sou?” Adiante, ao relembrar seu primeiro encontro com a jovem que se apresenta como Nadja e caminha “pobremente vestida” pelas ruas de Paris, “tão frágil que mal toca o solo ao pisar”, ele indagaria: “Quem vem lá? Serei eu apenas? Serei eu mesmo?” Hoje, em 2023, cabe ler Nadja – um lançamento da 100/cabeças, editora, criada em 2020 para irradiar o pensamento de autores ligados ao surrealismo – em contraste com As Mulheres e a Ficção de Woolf. A obra de fato poderia estar entre os livros estudados pela escritora britânica em sua reflexão sobre a desproporcionalidade das condições de trabalho entre artistas mulheres e homens, confirmando sua tese de que “as mulheres têm servido há séculos como espelhos, com poderes mágicos e deliciosos de refletir a figura do homem com o dobro do tamanho natural”.


Após um longo preâmbulo em que o narrador deambula por Paris, atravessando acontecimentos fortuitos, Nadja é introduzida como a revelação do sentido de vida, a ideia-limite surrealista, “o evento que cada um de nós está no direito de esperar”. Ela surge em uma aparição digna de sonho e cinema, sob uma explosão de plumas de pombas, que caem como a neve e, ao tocar o chão de cacos de telhas, ganha a cor do sangue. Nesse sentido, a poesia de Breton busca a mulher mítica pré-patriarcado e se alinha com os antigos europeus que, segundo James Frazer, em The Golden Bough (1890), acreditavam que havia algo de sagrado nas mulheres e, portanto, consultavam-nas como a oráculos.
Mas a crítica de Woolf sobre a parcialidade do conhecimento que um escritor homem tem da mulher – apesar de esta estar entre seus temas de preferência – é incontornável durante a leitura de Breton. Ela revela-se na sequência de descrições redutoras que o poeta surrealista faz de sua musa, detendo-se em problemas menores como a maquiagem mal-acabada dos olhos, ou reduzindo-a a uma “verdadeira esfinge sob as formas de uma jovem encantadora”. Também chamam atenção as similitudes entre as fragilidades de Nadja – a jovem doentia que o escritor se sente impelido a proteger – e de Virginia – antes de 1918, quando recebeu uma herança que lhe permitiu ter um teto todo seu para se dedicar à literatura com dignidade –, que sobrevivia “mendigando trabalhos ocasionais nos jornais, lendo cartas para senhoras idosas ou fazendo flores artificiais”. Nadja, ou Virginia Léona Camille Ghislaine Delcourt, não teve a mesma sorte que a autora de Orlando e não conheceu a artista que poderia ter sido. Em março de 1927, foi enclausurada em um manicômio, onde ficaria até o fim de seus dias, em 1941. Talvez o aspecto atemporal e realmente transcendente do livro de Breton seja a experiência urbana do narrador, que, ao deambular ao longo de 150 páginas, se relaciona com a Paris do passado – explorada pelo flâneur de Baudelaire – e do futuro – experimentada na deriva situacionista e na crítica anticapitalista que Guy Debord faria nos anos 1950-60. Nesse sentido, chama atenção o debate que o poeta surrealista trava com a sua “jovem encantadora”, em uma esquina da cidade, manifestando seu repúdio pelas “sinistras obrigações da vida”, a meritocracia e o trabalho cooptado pelo capital.

FOTOS: PABLO VOLTA / CORTESIA EDITORA 100/CABEÇAS; E DIVULGAÇÃO
154 155 VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023
No Museu Grévin (1959), de Pablo Volta; à esq., Um Retrato Simbólico Dela e Meu (1926), desenho atribuído a Nadja por Breton
Nadja de André Breton, Edições 100/cabeças, 184 págs., R$ 82
LIVRO ANARQUIVAR, DESESQUECER
Márcio Seligmann-Silva lança
obra sobre o “trabalho de testemunho”, composta sob as sombras da pandemia e do bolsonarismo
JOSÉ BENTO FERREIRA
Curador das exposições Hiatus (Memorial da Resistência, 2017) e MemoriAntonia (Ceuma-USP, 2021), com importantes contribuições para os estudos literários e culturais, o professor Márcio Seligmann-Silva aponta, em livro recém-lançado pela Editora da Unicamp, o testemunho como fator determinante da “virada decolonial” nos estudos culturais e historiográficos.
Em 12 ensaios encadeados com coesão evidente, além da apresentação, introdução e palavras finais, o testemunho não é pensado como um
gênero textual nem como um objeto de investigação sociológica, mas como a força expressiva pela qual o real irrompe nas obras. Entenda-se por “real” não o objeto da representação naturalista, mas a reverberação traumática que permeia a narrativa, escapa ao arcabouço simbólico e não se apresenta senão por meio da “tentativa de apresentação do inapresentável”. Seligmann-Silva chama de “teor testemunhal” a expressão de aspectos emocionais enraizados na memória profunda, que restitui às obras de arte um “esteio de realidade”. Não se trata, portanto, de gênero específico, mas de uma chave de leitura que permite quebrar os paradigmas eurocêntricos impregnados nas “belas-letras” e “belas-artes”. Segundo o autor, o “real irrompeu fazendo desmoronar as formas tradicionais da literatura e das narrativas. A esse abalo denomino aqui virada testemunhal”. Seligmann-Silva considera a filosofia da história, de Walter Benjamin, como uma “escola do olhar” e demonstra sua importância para a “crítica da colonialidade”, apesar das limitações vividas pelo filósofo, morto prematuramente durante a fuga do nazismo. Em lugar do olhar direcionado para um futuro radioso, para o “ideal dos descendentes libertos”, Benjamin propõe a busca pela “imagem dos antepassados escravizados”. Esta seria, segundo Seligmann-Silva, uma “virada copernicana do saber histórico”, ou a “virada do anjo” em alusão à gravura Angelus Novus (Klee, 1920), comentada em Sobre o Conceito de História (Benjamin, 1940). O anjo recolhe os escombros da catástrofe histórica, assim como o poeta rememora os nomes dos mortos. A perspectiva crítica reivindicada por Seligmann-Silva a partir de Benjamin pretende “escovar a história a contrapelo”, isto é, evidenciar a “barbárie” existente em cada “documento de cultura”.
A escrita de A Virada Testemunhal e Decolonial do Saber Histórico (2022) por vezes mimetiza o teor testemunhal que pretende circunscrever, investindo-se a contrapelo, no sentido oposto da norma objetivista dos estudos
acadêmicos convencionais. Enquanto décadas de pesquisas se condensam, Seligmann-Silva aponta a exemplaridade da situação brasileira, em que o negacionismo e a necropolítica passaram a ser praticados de modo mais explícito no espaço institucional. Em meio à aguda crise, o autor entrevê uma virada: “A poderosa e sempre reafirmada noção de uma continuidade do progresso como algo positivo tem uma oportunidade única de sofrer a mais profunda crítica no momento em que vivemos. E, se sobrevivermos a esta pandemia, poderemos, a partir dessa crítica, abrir as portas para outros modelos de convivência inter-humana e com não humanos.”
TEOR TESTEMUNHAL NA ARTE
Explicações sobre trauma e memória municiam estudos sobre Na Colônia Penal (Kafka, 1919), Grande Sertão: Veredas (Rosa, 1956), A Nova Ordem (Kucinski, 2019) e, em especial, Memórias de um Sobrevivente (Mendes, 2001), relato autobiográfico sobre a “vida urbana e suburbana paulista nos anos 1960-1970”, que narra, do ponto de vista do preso comum, o “efeito da onipresente tortura no presídio da Avenida Tiradentes”. Os entraves para o “trabalho de testemunho” a respeito dos crimes praticados por agentes dos órgãos de segurança a serviço da
ditadura cívico-militar brasileira são uma preocupação constante do livro e três ensaios dirigem-se especificamente para esta questão sensível e urgente. Exemplo de “memoricídio” seria, segundo o autor, a presença discreta do Monumento em Homenagem aos Mortos e Desaparecidos Políticos (Ricardo Ohtake, 2014), que ele elogia, em meio ao “triângulo da memória paulista”, formado pelos monumentos triunfalistas ao descobrimento, às bandeiras e aos mortos na revolta de 1932. O autor menciona o Memorial dos Veteranos do Vietnã (Maya Lin, 1982) como exemplo positivo de rememoração: “Andamos acompanhando a cronologia dos mortos, descendo uma depressão cavada no parque Constitution Gardens como se adentrássemos uma ferida aberta”. Uma “virada mnemônica ética” compreenderia a “guerra de memória e de imagens” contra monumentos colonialistas, como o protesto contra o Borba Gato em São Paulo, e a linguagem dos “antimonumentos”: “Tanto o testemunho como o antimonumento são marcados pela fragmentação, uma visão mais humanizada e quente da história, mais próxima da memória do que da historiografia, uma visão do ponto de vista dos vencidos e dos mortos, uma estética do efêmero e não do triunfo eterno”.
Os “artistas do (des)esquecimento” combatem a “aliança entre os dispositivos estético e colonial” com um “dispositivo político que visa uma catarse que tem por objetivo não tanto uma cura, mas sim o despertar para o outro”. Seligmann-Silva menciona Cicatriz (Rosângela Rennó, 1996-2003), a Documenta XI (2002), Traces of Violence (Brodsky, 2021) e From Here I Saw What Happened and I Cried (Weems, 1995) como exemplos do “momento testemunhal” na arte. Parede da Memória (Rosana Paulino, 1994) recebe uma análise mais extensa e figura na capa e contracapa do livro. Com centenas de “patuás” formados a partir de 11 retratos, a artista cria uma “versão contemporânea afro dos lugares de memória da mnemotécnica” e, na síntese dos gestos da fotografia, da costura, da memória da família e da origem africana, “torna-se quem dá as cartas na cena de apresentação dos corpos negros”.
O teor testemunhal na arte e na literatura é crucial para uma “virada ética da rememoração”, uma vez que os “genocidas são memoricidas” e, restrita ao campo das provas documentais, a luta para desconstruir “imagens do esquecimento” reproduz a “lógica do carrasco”. Uma “poética do testemunho”, porém, daria um “passo para fora do arquivo”. Sem essa “catarse”, não criaremos as condições para quebrar o “silêncio da história”, que repete os “crimes de lesa-humanidade”.

A Virada Testemunhal e Decolonial do Saber Histórico (2022) de Márcio Seligmann-Silva, Editora da Unicamp,

FOTOS: DIVULGAÇÃO
157
Detalhe da obra Parede da Memória (1994-2015), de Rosana Paulino
VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023
CRÍTICA
368 págs., R$ 98
SÃO PAULO FALHAR DE NOVO, FALHAR MELHOR
A série Carimbos, de Carmela Gross, exposta novamente ao público no IAC, após 45 anos, chama para os encargos do trabalho da artista
ELOISA ALMEIDA
Está em cartaz no Instituto de Arte Contemporânea, em São Paulo, a exposição Carimbos, de Carmela Gross. A curadoria de Ricardo Resende reapresenta ao público a série que dá
título à mostra, desenvolvida entre 1977 e 1978 pela artista. Exposta pela primeira vez, em 1978, na finada Galeria de Artes Gráficas, da qual Mônica Filgueiras e Raquel Arnaud eram sócias fundadoras, 45 anos distanciam os dois momentos.
A partir da premissa de que a série Carimbos existe além de seu resultado materializado na aplicação de carimbos em mais de uma dezena de folhas de papel com os rabiscos e garatujas estampados em série, a mostra associa as obras ao seu processo de produção. Por dois anos, Carmela Gross estudou reproduções em livros das pinturas dos impressionistas franceses e, por um processo minucioso de isolar e achatar até a síntese máxima traços e pinceladas, reduziu-os ao rabisco, à mancha. Esses elementos foram então replicados em carimbos, como “extrapolação de um princípio burocrático”, em que a “artista sufocava o princípio de autenticidade do gesto artístico”, como define Paulo Miyada no texto “A geógrafa, a má revisora e a espeleóloga”. O processo inegável da ação do tempo na série reside no dispêndio de tempo empregado em sua fabricação, assim como no quase meio século necessário para o seu reconhecimento como algo a ser preservado, agora em uma instituição dedicada a tal tarefa. O IAC tem como projeto a preservação de arquivos de artistas constituintes do que reconhecemos hoje como arte contemporânea brasileira.
Durante uma fala com Carmela Gross e a curadora Galciani Neves, organizada pelo IAC por ocasião do lançamento de um projeto do instituto
que oferece bolsas de pesquisa para estudantes universitários e recém-formados, perguntei à artista como ela encarava o tempo como matéria nessa série: “Foi o primeiro trabalho em que me senti realizada, naquele momento, em todos os aspectos, na técnica e execução, na prática em que havia me especializado por anos, no resultado”. Assumiu também que os papéis que são hoje o produto final ficaram esquecidos por muito tempo, largados, e que a faziam lembrar daquela situação, de todo o esforço árduo, braçal, físico e mental, encerrando-se quando a exposição acabou, com quase nenhum visitante. Parte do conjunto pertence, hoje, a Bernardo Paz, fundador do Instituto Inhotim.
Ainda que para um público especializado, a exposição no IAC tem outros ares. O público não é massivo, mas colossal, se comparado ao do Gabinete em 1978. O tempo é outro e o interesse pela série aumentou ao longo dos anos, assim como o nome e a trajetória de Carmela Gross, como artista, ganharam outra
escala. Mas o que salta aos olhos é a generosidade da expografia e o trabalho de Gross – digo, o trabalho e o esforço do fazer artístico –, a contradição interna do trabalho (ser compulsivo ao mesmo passo que mecanicamente simples), e isso ser visível aos olhos nas matrizes, nos esboços, nos convites, reportagens e tudo aquilo que não é obra, mas integra o trabalho da artista. Se tomarmos a mercantilização da força de trabalho como gasolina e motor do capitalismo, como argumenta o pesquisador britânico Peter Osborne, Carimbos é ainda mais ambígua e contraditória. São as horas de ateliê, de repetição das mesmas formas, além de trocas, conversas e todo o trabalho afetivo feito por Gross ao longo dos anos, que fazem a série ser o que é na atualidade. Hoje, mais pessoas estão fazendo arte e pensando sobre arte, afirma Carmela em conversa com Galciani Neves. Isso implica um processo de aprendizagem para quem trabalha diretamente com arte e para todas as outras pessoas que fazem outras coisas. Os compradores são apenas alguns, mas o tempo é múltiplo e é compartilhado. Que venham os próximos 45 anos de Carimbos, para olhar e pensar de novo sobre seus significados.



FOTOS: DIVULGAÇÃO
VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023
Obras da série Carimbos (1977-78), de Carmela Gross
CRÍTICA
Carimbos - Carmela Gross Até 6/5, Instituto de Arte Contemporânea (IAC), Av. Dr. Arnaldo, 120/126, www. iacbrasil-online.com/
SÃO PAULO
SP TERRA INDÍGENA
Exposições inaugurais do Museu das Culturas Indígenas
irrigam o solo de um projeto institucional nascente
Um pequeno livro chama atenção em uma estante instalada no último andar do Museu das Culturas Indígenas (MCI), em São Paulo. Na capa, ele clama por oportunidade para imaginar outros mundos. O Bem-Viver (Editora Elefante) anuncia que o mundo precisa de mudanças radicais, de outras formas de organização social e práticas políticas, de modos de vida que não sejam pautados pela acumulação do capital, mas
baseados em direitos humanos e direitos da natureza, na valorização de todas as formas de vida. O livro de Alberto Acosta, político e economista equatoriano, que folheio enquanto espero a contação de estórias do escritor Daniel Munduruku, numa quarta-feira de feriado na cidade, afirma-se como uma busca de alternativas forjadas no calor de lutas indígenas. À medida que atravesso as exposições temporárias inaugurais, percebo a íntima proximidade que essa filosofia do bem-viver –conceito indígena compartilhado por diferentes povos do continente e integrado à Constituição do Equador de 2008 – guarda em relação ao projeto institucional do MCI.
Inaugurado em julho de 2022, o MCI é mais que um museu. Em tantos meses de atuação, afirma-se como um lugar de contato com a memória ancestral, com o papel da educação, da medicina, da arte, da música e das cosmovisões indígenas, como um polo de informação sobre políticas públicas. Um lugar de reunião de povos em diálogos interculturais e de encontro entre indígenas e não indígenas. As três exposições inaugurais em cartaz são condutoras desses propósitos.
Com curadoria de Denilson Baniwa, Ygapó Terra Firme irriga o solo desse projeto institucional nascente. A partir do conceito do ygapó – do tupi “raízes d’água”, ecossistema que garante à flora amazônica as condições para enfrentar terrenos pobres em nutrientes ou ameaçados pela intervenção
humana criminosa – a exposição estrutura uma base conceitual do novo museu. Apresenta uma instalação sensorial – para evocar as escutas do corpo – e uma seleção de vídeos de arte e música indígenas, entre eles o videoclipe digital Jaguatá Tenonderé (2021), de Owerá (https://select.art. br/rima-e-flecha/), e Fique Viva, da rapper Brisa Flow (2019), rodado na aldeia Tekoa Yvy Porã, em São Paulo, com a participação de Brisa de la Cordillera, do povo Mapuche. O vídeo musical de Flow aborda a sobrevivência da mulher indígena urbana, passando seu recado para terem “cuidado na trilha”, ficarem espertas e atuarem juntas na reconstrução de sua ancestralidade, apagada pelo processo de embranquecimento dos países latino-americanos. No final do vídeo, texto da artista goiana Sallisa Rosa explica que a palavra arte não tem tradução nas línguas indígenas, porque povos ancestrais não separam arte e vida. Nesse sentido, Invasão Colonial Yvy Opata: A Terra Vai Aca-

bar, exposição individual de Xadalu Tupã Jekupé, propõe um “reflorestamento da visão” da história do Brasil e do mundo contemporâneo. Em uma dezena de trabalhos tecidos em técnicas mistas, com vídeo, objeto, colagem, serigrafia, pichação, carimbo, fotografia, pintura etc., ele confronta a visão da história oficial com a memória da comunidade Guarani Mbyá. “Essas possibilidades surgem nas obras de Xadalu Tupã Jekupé como uma estratégia de luta essencial no caminho da descolonização”, afirma Sandra Benites em texto curatorial.
A onça-guardiã, pintura mural de Tamikuã Txihi, recepciona os visitantes do museu ao lado do Parque da Água Branca. A terceira exposição temporária é Ocupação Decoloniza – SP Terra Indígena, composta de pinturas na empena e áreas externas do edifício do MCI. O projeto institucional de encontros estende-se à direção do museu, que tem uma proposta inovadora de gestão compartilhada entre o Instituto Maracá –integrado por Ailton Krenak, Carlos Papá Mirim, Cristine Takuá, Adriana Calabi e Augusto Canani –, a ACAM Portinari e a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, visando o protagonismo indígena. PA
Museu das Culturas Indígenas
FOTO: CORTESIA MUSEU DAS CULTURAS INDÍGENAS, SP
160
161
XXXXXXXXXXXXXX
VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023
Vista da exposição Invasão Colonial ‘Yvy Opata’: A Terra Vai Acabar, de Xadalu Tupã Jekupé
Ygapó Terra Firme, Invasão Colonial-Xadalu Tupã Jekupe, Ocupação Decoloniza - SP Terra Indígena
CRÍTICA
Até 30/4, Rua Dona Germaine Burchard, 451
CINEMA O ÓDIO RACIAL EXPLICADO AO MUNDO POR UM CAIXÃO ABERTO

Drama documental dirigido por Chinonye Chukwu atualiza a realidade crua do racismo
JULIANA MONACHESI
Na cena de abertura de Till – A Busca por Justiça (2022), lançado em fevereiro no Brasil, uma mulher cantarola alegremente a música que toca no rádio de seu carro, o foco fechado nela, até que, ao recitar o refrão “Faço qualquer coisa por você”, o olhar da mulher e a câmera voltam-se para o jovenzinho sentado no banco do passageiro, seu filho. Quando novamente focaliza a mãe, vemos que seus olhos se encheram de lágrimas. Para quem conhecer a história de Mamie
e Emmett Till, essa é a deixa para começar a chorar. A obra, dirigida pela cineasta Chinonye Chukwu, mescla a biografia de mãe e filho com inflexões históricas do Movimento dos Direitos Civis nos EUA e com licenças poéticas próprias da linguagem cinematográfica.
A história se passa em 1955. Mamie Till-Bradley, cujo primeiro marido, o pai de Emmett, morreu servindo no Exército dos EUA na Segunda Guerra Mundial, vive uma rotina tranquila em Chicago, entre o trabalho e a vida familiar (com uma densa interpretação por Whoopi Goldberg da mãe de Mamie), na qual o centro de todas as atenções é Bo, apelido do garoto de 14 anos que está decidido a ir passar as férias de verão com os primos no Mississippi. Mamie não gosta da ideia, porque conhece a realidade do Sul segregacionista onde nasceu. Porém, como toda mãe de adolescente, sabe que não pode impor ao filho sua vontade. Ela explica minuciosamente as diferenças culturais entre Chicago e o Mississippi, lista recomendações e conselhos e, afinal, acompanha-o até a estação de trem. Seguem-se dias de angústia, em que Mamie divide com seu círculo de amigas e com o companheiro, Gene Mobley, a preocupação com a segurança de Bo. Mas a família recebe notícias de que Emmett acompanhou o tio e os primos na colheita de algodão um dia, que está bem e feliz, o que faz a mãe sorrir aliviada e se questionar sobre a sua constante inquietude. Na cena em que a diretora representa essa experiência de colher algodão do ponto de vista de Emmett, entretanto, o que vemos é um adolescente entediado, queixando-se sobre a função de recolher os pequenos frutos do algodoeiro, a que seu tio responde que parte da colheita é do dono da terra, mas uma parte fica para a sua família, que pode vender o produto – um choque de realidade e contraste com a vida em uma metrópole, bastante diverso da
ideia de que o garoto está feliz colhendo algodão. O alívio da mãe, como se sabe, dura pouco. Emmett Till foi linchado até a morte, em agosto de 1955, perto da cidade de Money, no Mississippi, seu corpo jogado no Rio Tallahatchie e encontrado três dias depois do assassinato. Por insistência de Mamie Till, o funeral aconteceu em Chicago e o velório foi feito com o caixão aberto. “Ninguém vai acreditar no que eu acabo de ver; precisam ver por si mesmos”, diz a personagem, interpretada por Danielle Deadwyler, quando pede ao companheiro que vá buscar o terno preto do filho para o funeral e recebe uma resposta espantada sobre a sua decisão. Não é exagero dizer que a fotografia do caixão aberto de Emmett Till mudou o mundo, pois fez avançar a aprovação nos EUA de leis que criminalizam o linchamento e o racismo, além de ter impactado os movimentos por direitos civis em toda parte. O filme ainda envereda pela subsequente luta de Mamie Till-Mobley por justiça e contra o racismo nos Estados Unidos, tornando-se uma das mais potentes vozes no ativismo pelos Direitos Civis no país. Em 2017, no contexto das ações do Black Lives Matter exigindo justiça nos casos Michael Brown e Eric Garner, a história de Emmett e Mamie Till veio à tona com força nos EUA. Uma das obras da artista Dana
Schutz expostas na Bienal do Whitney daquele ano, Open Casket (2016), gerou controvérsia e protestos de integrantes do movimento negro em Nova York. “Há uma tendência profundamente puritana e anti-intelectual na cultura estadunidense que se expressa colocando o julgamento moral antes da compreensão estética”, escreveu a artista Coco Fusco na ocasião, em artigo para a Hyperallergic. A pintura de Schutz, uma abstração construída a partir da famosa fotografia, evidencia como a história de Mamie e Bo precisa ser contada e recontada às novas gerações, pois não se trata de expor o sofrimento negro, mas de escancarar o trauma do ódio racial.


FOTOS: DIVULGAÇÃO; E REPRODUÇÃO TWITTER
VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023
Cenas de Till A Busca por Justiça dirigido por Chinonye Chukwu; abaixo, protesto durante a Bienal do Whitney de 2017 diante da pintura Open Casket (2016), de Dana Chutz
CRÍTICA
Till - A Busca por Justiça Direção de Chinonye Chukwu, @UniversalPicturesBRA
SÃO PAULO
MUDAR O SENTIDO
DAS COISAS
Cinthia Marcelle joga com as estruturas de poder em Por Via das Dúvidas, no Masp
FERNANDA MORSE
Nada grita, tudo chama: em Por Via das Dúvidas, primeira retrospectiva da artista Cinthia
Marcelle em grande instituição brasileira, pode-se vislumbrar o que é isso que vibra em sua obra, ainda que a exposição nem sempre se coloque a favor do caráter sincrônico e insurgente do seu trabalho. Descendo a rampa que leva ao segundo subsolo do Masp, os eixos da mostra se anunciam a partir da grande parede diagonal instalada no salão. Diferentes linguagens (fotografia, vídeo, colagem, instalação, performance, entre outras) e materiais (desde papel fotográfico até objetos do repertório da construção civil) articulam-se em uma produção calcada em procedimentos conceituais finos e forte inquietação política.
Variando entre a economia e o excesso, a sutileza e o burburinho, Cinthia Marcelle se interessa em mudar o sentido das coisas (“I can change the meaning of things”, afirma em vídeo para a exposição com-contra-de-desde, em 2011) rearranjando, no âmbito da arte, a ordem do que está dado no mundo. É nesse caminho que a produção artística se constitui como um poderoso exercício de imaginação política. Problemas como o tempo e o trabalho, o previsível e a contingência, a norma e o desvio são abordados de modo a
trazer para o campo simbólico aspectos mundanos, por vezes considerados “apoéticos”, que facilmente fogem à nossa atenção.
Bem, o estranhamento que esse tipo de procedimento causa não é novidade, e o esforço de unir a arte à tal “práxis vital”, como diria Peter Burger, já se conhece desde as vanguardas do início do século passado. Apostando mais no exercício reflexivo do público do que em seu estado contemplativo, Marcelle nos lembra a todo instante que arte é trabalho e é tempo – e o que ela quer é fazer entrar aquilo que está do lado de fora do museu –, daí o jogo com os tapumes brancos apoiados no vidro que dá para o jardim, explicitando a tensão entre o fora e o dentro.

Ainda que busque criar uma desidentificação no
público, um distanciamento à la Brecht – isso é uma montagem, isso é uma cena –, a obra de Cinthia Marcelle não afasta, e, nesse sentido, é coerente com o seu processo, que se desenrola a partir do contato, da troca, da interação com o outro, como defende a artista. “Ao escrever isso, penso no garotinho que cruzei em minha visita, 5 anos no máximo, vidrado na TV que exibe o vídeo Confronto, da série Unus Mundus (2005), seguindo a dança do fogo e dançando junto.”
O título da série, aliás, dá o ensejo para que se pense o caráter sincrônico da sua produção. O termo latino unus mundus – literalmente, “um só mundo” – remonta aos alquimistas medievais e à sua recuperação por Carl Gustav Jung, que elabora o conceito de sincronicidade. Marcelle apropria-se desse princípio explorando a orquestração dos eventos – como eles podem ser coordenados incidindo ao mesmo tempo, de diversos pontos, sobre o real. O trabalho da mesma série intitulado Refrão (2004-15), que aparece na mostra como registro, explora tal princípio ao reunir casais que se beijam no mesmo horário, na mesma praça, com as mesmas cores de roupa. Já em
FOTO: ISABELLA MATHEUS / CORTESIA MASP
VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023 CRÍTICA
Da Parte pelo Todo (2014-22), de Cinthia Marcelle
Confronto, um grupo de pessoas fazendo malabares no semáforo é algo corriqueiro – mas basta que fiquem mais um pouco, quando o sinal vermelho fica verde, para que se altere a ordem das coisas.
Destacando-se em três eixos, estão: a instalação que dialoga com o espaço do museu, Da Parte pelo Todo (2014-22); as obras ligadas ao universo da educação, como R=0 [Homenagem aos Secundaristas] (2022) e Educação pela Pedra (2022); e a série Calendário (201820), que explora a correlação entre tempo e trabalho. Embora abordem temas e se utilizem de materiais diferentes, os assuntos se interpenetram – as ferramentas de trabalho trazidas em
um, a meditação sobre o seu exercício trazida em outro; os limites impostos pelas instâncias de poder em um, os limites traçados pelos espaços institucionais em outro etc.
Da Parte pelo Todo (2014-22), em sua montagem pensada para a exposição, parece ter o interesse de salientar as fronteiras, as interdições, a luz e a sombra que constituem o espaço do museu. E ali onde o preto vira branco e vice-versa, lê-se o aviso, que se integra, inevitavelmente, à obra: favor não ultrapassar. Penso em Marcel Broodthaers e seu fictício Musée d’Art Moderne – Département des Aigles. Instituição sem espaço próprio, o seu museu se materializava nas placas e peças de sinalização irreverentes criadas pelo artista – ou seja, existia em seus mecanismos de delimitação de espaços e seções que, fisicamente, nem existiam – setas que não levam a lugar algum, regras que não serão cumpridas. Dentro dessa problemática, vale lembrar do relato da própria Marcelle, em vídeo para a sua exposição individual de 2022 no Macba: “O meu trabalho começa no espaço urbano, fora de galerias
e instituições” e, ao visitar uma exposição sua, “o público vai ver o que ele já viu, mas de uma outra forma”.
Em R=0 [Homenagem aos Secundaristas] (2022), Marcelle homenageia e ativa a memória de uma das mais relevantes ações políticas contestatórias das últimas décadas no Brasil. O movimento dos secundaristas, que em 2015 ocuparam suas escolas em uma luta ativa, propositiva e organizada contra medidas do Estado que previam o fechamento de diversas unidades, atesta o poder da mobilização coletiva. E a artista, ao pegar um elemento que fez parte dessa história – a cadeira escolar – intervindo sutilmente sobre ele em um jogo de equilíbrio com o giz – que já havia realizado na primeira versão da obra, intitulada R=0 [Homenagem a M.A.] (2009) –sugere em um esquema físico e visual como é tênue o equilíbrio de uma estrutura uma vez que se intervém na sua base.
Giz e lousa são material e suporte recorrentes na produção da artista. Mas, diferente das lousas de Joseph Beuys, saturadas de discursos e rabiscos, das lousas de Cinthia Marcelle ficam o rastro do giz e o pó – a sua produção não é ideológica. A mensagem não vem pronta, direta, não está ali para simplesmente ser transmitida. O sentido está a ser feito, a ser completado, não foi capturado. O ímpeto é contestatório, não sendo tarefa do artista dar a resposta, mas fazer circular a pergunta – penso em Cildo Meireles carimbando as notas Já na série Calendário, a interdependência entre tempo e trabalho é demonstrada através de um esquema montado entre tecido, ripas de madeira, tinta e barbante. O tecido
é industrialmente tingido com seu fundo branco e listras pretas, e a artista cobre manualmente a superfície com tinta branca. Quanto mais a tinta branca avança sobre as listras pretas do tecido, somam-se as ripas de madeira acima do painel envolvidas com um cadarço preto que também se estende gradualmente sobre elas. O título de cada peça é composto por um sinal de menos e um número, como 12 e seus múltiplos: -12, -24, -36, -48... (se pensarmos em anos, temos 1, 2, 3, 4, e assim por diante). A peça número 0 é aquela em que só vemos os materiais reunidos, sem intervenção. A materialização do trabalho demonstrada aqui é referenciada através de números negativos, como se, ao contrário das noções de construção, ganho e avanço embutidas na ética do trabalho, aqui ele fosse encarado como sinônimo de perda de alguma coisa – perda de tempo.

Quando digo que nem sempre a exposição dá conta do caráter sincrônico e insurgente da obra de Marcelle penso, sobretudo, na escolha por trazer algumas produções que, exibidas enquanto registro, perdem parte de sua força e razão de ser, já que são fenômenos vinculados ao presente em que se dão. Entre elas estão a performance Na Batalha de Maria (2003-22), a ação Refrão (2004-15), a Raspadinha (2000-16) que fez circular o (termo) Poder, ou mesmo a adaptação de Educação pela Pedra (2016), obra inicialmente realizada em diálogo com o espaço da Duplex Gallery do MoMA PS1, que antes abrigava uma escola. Por outro lado, não é desinteressante ter notícia desses trabalhos, afinal nos permite vislumbrar o percurso da artista até aqui, ainda que se dê como experiência incompleta – e não teria como ser de outro jeito.
Nada grita, tudo chama na produção de Cinthia Marcelle, porque é sutil e, ao mesmo tempo, mobiliza. Os temas são pontudos, os problemas são complexos, o posicionamento é político, mas nada é indiscriminadamente jogado para cima de nós. É como se o objetivo fosse mexer com a gente assim como aquele giz mexe com aquela cadeira. Experimentar com o que desmonta, abre, expõe a estrutura – até a parede da expografia mostra o seu dentro, as ripas que a mantêm de pé. Em 2017, ao receber menção honrosa pela instalação Chão de Caça no pavilhão brasileiro da 57ª Bienal de Veneza, Marcelle termina seu discurso citando a célebre frase do crítico de arte Mário Pedrosa: “Arte é o exercício experimental da liberdade”.
FOTO: ISABELLA MATHEUS CORTESIA MASP 166 167 VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023
Detalhe da instalação Da Parte pelo Todo (2014-22), de Cinthia Marcelle
Por Via das Dúvidas, Museu de Arte de São Paulo, SP, www.masp.org.br
CINEMA
PODER: MODOS DE USAR
Indicado ao Oscar 2023, TÁR discute questões atuais de poder e de abuso, quebrando a relação oprimido x opressor do cinema
LUANA ROSIELLO
Assistir a TÁR, novo longa-metragem do produtor, roteirista e diretor Todd Field, é como acordar de um sonho lúcido. É perceber que se está sonhando enquanto seus olhos ainda estão fechados, o que torna possível que o sonhador tenha experiências sensoriais mais vívidas do que costuma ter em sonhos comuns, ou seja, é não saber, ao certo, o que é fato ou ficção. Ao longo de intensas 2 horas e 40 minutos, TÁR sustenta uma narrativa – que mira e acerta no documental – sobre a personagem ficcional Lydia Tár, interpretada pela atriz australiana Cate Blanchett. O filme acompanha sua trajetória conturbada como regente da Orquestra Filarmônica de Berlim e as ansiedades de concretizar com maestria seu próximo e mais importante desafio: a gravação ao vivo da Sinfonia nº 5 de Gustav Mahler. No ramo da música, a compositora está em um pedestal: sua carreira é invejável, ganhou status mundial ao se tornar a primeira diretora musical mulher da Filarmônica de Berlim. Como uma pioneira, a virtuosa e apaixonada musicista lidera o caminho na indústria da música clássica, que é, historicamente, dominada por homens brancos, e irá derrubar, literalmente, tudo e todos que ousarem atravessar seu caminho para alcançar a fama e o poder.
MULHERES PODEM SER MACHISTAS
Como regente, Lydia Tár não apenas orquestra, mas também manipula. Basta acompanhar os primeiros cinco minutos do longa para perceber que ela não é flor que se cheire. O filme aborda diversos assuntos polêmicos e atuais, como machismo, sexismo, abuso sexual e de poder, que, no decorrer da história, vão se intensificando como uma bomba-relógio.

Nesse sentido, a construção minuciosa da personagem, uma mulher europeia, branca e lésbica, cumpre um papel fundamental na história. Logo no início, durante uma entrevista a um canal de televisão, Tár declara sua opinião não tão popular sobre as questões de gênero, afirmando que nunca sofreu abuso ou preconceito no ramo musical, e que alcançou a fama por seu mérito. Ainda, o entrevistador a questiona sobre chamá-la de “maestro”, referindo-se ao pronome masculino da palavra. Em resposta, diz não aceitar o termo “maestrina”, fazendo troça do fato de as astronautas não serem chamadas de “astronetes”. Ao longo do filme, o espectador encontra-se em uma relação de estranhamento com a personagem, que parece defender ideais retrógrados e contraditórios com seu estilo de vida: Tár é uma mulher machista. Uma cena é crucial para os destinos que o filme toma: a personagem é convidada a lecionar uma aula na Juilliard School, escola de Ensino Superior de Música, Dança e Dramaturgia, em Nova York, nos Estados Unidos. Tudo parece bem até que um jovem negro e pansexual diz que se recusa a ouvir as composições de Bach e de outros compositores clássicos. Ignorando todos os motivos do aluno, a regente nega-se a julgar anacronicamente artistas clássicos da música, protagonizando cenas duvidosas em resposta à provocação do aluno que, mais à frente, são publicadas nas redes sociais.
O momento coloca em questão uma pauta atual nas artes: é possível admirar a produção de uma pessoa detestável? E, mais que isso: é preciso separar? Estas são algumas das questões que TÁR nos coloca de forma intensa e com uma performance memorável na carreira de Cate Blanchett.
PRIVILÉGIO BRANCO
Não satisfeito, o roteiro de Field subverte totalmente a lógica oprimido x opressor reproduzida no cinema. Em TÁR, a grande polêmica de assédio moral é protagonizada por uma mulher, deslocada do clássico lugar de vítima. Aqui, podemos citar Paulo Freire, que diz “quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor”.
A personagem não economiza seu lugar de poder para seguir uma vida desregrada. Em troca de sexo com jovens musicistas, Tár cede cadeiras em sua orquestra, cometendo corrupção, traição e abuso de poder. Com foco na sua relação com uma ex-colega de orquestra, o filme examina a natureza mutável do poder, seu impacto e durabilidade em nosso mundo moderno, fazendo questionar, ainda, os privilégios brancos em julgamentos públicos.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
169
XXXXXXXXXXXXXX
VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023
Cate Blanchett em cenas do filme TÁR
TÁR
CRÍTICA
Direção de Todd Field, @UniversalPicturesBRA
TEATRO
UBU REI, UM TRATADO SOBRE
NOSSOS TEMPOS
Em resposta ao levante do fascismo, grupo de teatro Os Geraldos conta a história recente do Brasil a partir da peça de Alfred Jarry
PAULA ALZUGARAY
Ubu Rei foi escrita por Alfred Jarry no fim do século 19 e, nos 120 anos em que vem sendo encenada em todo o mundo, não perde a atualidade. É considerado um texto visionário não apenas do surrealismo, do Dada e do Teatro do Absurdo, mas da era de totalitarismos, extremismos, ditaduras e atentados antidemocráticos, nos séculos 20 e 21. A peça conta a história de
Pai Ubu e Mãe Ubu, que usurpam o trono do rei da Polônia e instauram um governo de caos absoluto, normatizando a estupidez e a barbárie. A identificação entre a sátira de Jarry e a calamidade política, cultural e humanitária deixada pelo desgoverno Bozonaro confere à montagem de Ubu Rei pelo grupo Os Geraldos, com direção de Gabriel Villela, a qualidade de um tratado sobre nossos tempos.
Em um mundo que regride ao fascismo, a peça tem um caráter de observatório da realidade, ou crônica, ainda que por meio da sátira. Complexifica a tarefa o fato de a crônica contemporânea, diferentemente do século 20, ter de se pautar hoje não só por experiências vividas ou fatos noticiados, mas por verdades produzidas em redes sociais, pela indistinção entre fato e ficção e pelo empoderamento da extrema-direita pelos algoritmos. Se o Rei e a Rainha Ubu encarnaram casos de deturpação e abuso de poder ao longo da história, agora eles representam o dirigente que incita ao ódio, dissemina a violência digital, desmantela políticas públicas, sufoca direitos humanos e pacientes de Covid-19. “As desventuras de Pai Ubu concorrem com barbaridades ubuescas atuais que nem Jarry ousou imaginar”, aponta a atriz Paula Guerreiro (Mãe Ubu), em texto do programa da peça. Mas a montagem responde bem à toxicidade da vida contemporânea. Para “responder com violência poética à selvageria destes tempos”, Villela cria com Os Geraldos uma narrativa antropofágica, colocando, no mesmo caldeirão de referências a memes e piadas políticas digitais, um sem-fim de citações às linguagens do cartoon, do teatro de marionetes, do teatro de sombras,
do teatro de revista, do tropicalismo, do Teatro Oficina, do cancioneiro popular, da música de protesto, do humor popular televisivo brasileiro, de Shakespeare, Rabelais…
Ainda que o texto seja uma tradução de Barbara Duvivier e Gregório Duvivier (Ubu Editora, 2021), cabe ao elenco – um coro afinado de 14 atores – a atenção permanente ao contexto político nacional, para a produção de novos comentários. “A peça está prevista para circular durante muito tempo e vai ficar a critério do ouvido do elenco o que acontecer durante a temporada. A gente vai, naturalmente, selecionando prosas, conversas e textos de jornais, dialogando com as cenas, retirando da realidade os temas a serem acoplados à fábula do Alfred Jarry”, diz Gabriel Villela à seLecT_ceLesTe. A música é o 15º ator da peça, uma voz coletiva que vem representar as múltiplas e contraditórias identidades do brasileiro.
Ubu Rei tem um histórico de sucesso arrebatador no Brasil. Ubu – Pholyas Physicas, Pataphysicas e Musicaes, montagem do Teatro do Ornitorrinco, de Cacá Rosset, Maria Alice Vergueiro e Luiz Galizia, ficou duas décadas em cartaz – de 1985 a 1997 –, consagrando a fórmula de uma dramaturgia popular + erudita + política. Nos anos de redemocratização, a peça arejou e ampliou o espectro de espectadores do teatro e abriu a porta para o humor sofisticado que surgiria depois na TV e na internet, como o Porta dos Fundos. Vale lembrar que Maria Alice Vergueiro foi professora de Cacá Rosset na ECA-USP e foi expulsa da instituição após uma montagem estudantil, em 1974, em que ela, interpretando uma rainha louca, era enrabada por ele, no papel de um toureiro cafetão. Conta uma reportagem publicada na Folha Ilustrada em 2018, que o único professor a defendê-la foi o crítico Sábato Magaldi (1927-2016), que teria dito: “Historicamente, professores sempre enrabaram os alunos. O que é que tem uma vez um aluno enrabar o professor?”
A voz libertária de Magaldi, ainda em tempos de ditadura militar, ganha ressonância no riso atemporal de Alfred Jarry, que inventou a “patafísica” – a ciência das soluções imaginárias – para libertar o pensamento das visões maniqueístas, polarizadas, moralistas, sexistas, racistas e misóginas. Jarry é a evocação perfeita neste momento em que a mediocridade foi derrotada nas urnas. Contar a história recente do Brasil a partir de Ubu Rei e converter o monstro em palhaço é uma catarse, uma resposta ao levante do fascismo.

FOTO: STEPHANIE LAURIA / DIVULGAÇÃO
171
VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023 Ubu Rei Até 12/3, Teatro Anchieta – Sesc Consolação, Rua Dr. Vila Nova, 245, São Paulo, sescsp.org.br/consolacao CRÍTICA
Cena de Ubu Rei, do grupo Os Geraldos, direção de Gabriel Villela
VIRA-VIRA
QUARTO DE DESPEJO: DIÁRIO DE UMA FAVELADA CAROLINA MARIA DE JESUS, ÁTICA, 2020
Narradas em forma de diário, as agruras e as centelhas poéticas da vida de uma catadora de papel, moradora da Favela do Canindé, em São Paulo, nos anos 1950.
PERDER A MÃE: UMA JORNADA PELA ROTA ATLÂNTICA DA ESCRAVIDÃO
SAIDIYA HARTMAN, BAZAR DO TEMPO, 2021
Referência nos estudos afrodiaspóricos, a historiadora narra, a partir de sua própria história familiar, a jornada dos heróis anônimos que tombaram na rota afro-atlântica da escravidão.
ÁGUAS DE HOMENS PRETOS: IMAGINÁRIO, CISMA E COTIDIANO ANCESTRAL (SÃO PAULO, SÉCULOS 19 AO 21)
ALLAN DA ROSA, VENETA, 2021
O som e a fúria das águas – oceânicas, de (des)abastecimento, do esgoto –, em todo seu manancial simbólico, embalam, afogam e regeneram uma pesquisa acadêmica escrita em primeira pessoa.
OS ANOS ANNIE ERNAUX, FÓSFORO, 2022
O livro propõe-se uma autobiografia impessoal, cujo narrador é um sujeito coletivo e indeterminado, deslocando o gênero para o campo da sociologia.
PERTENCIMENTO: UMA CULTURA DO LUGAR
bell hooks, ELEFANTE, 2022
Em livro de ensaios, autora reivindica o legado de artesãs e agricultores negros do passado e do presente para vislumbrar um futuro de reconexão com a terra e valores ancestrais.
MANIFESTO SOBRE NUNCA DESISTIR
BERNARDINE EVARISTO, COMPANHIA DAS LETRAS, 2022
Um livro de memórias. Um relato sobre a própria trajetória de exclusão nos campos da literatura e da vida. Um manifesto pela diversidade e a inclusão no meio artístico.

UM APARTAMENTO EM URANO: CRÔNICAS DA TRAVESSIA
PAUL B. PRECIADO, ZAHAR, 2020
Ao longo de 2010 a 2018, o autor compartilhou com os leitores do jornal francês Libération seu processo de transição de gênero, em textos de 5 mil caracteres, aqui reunidos.
NÃO VÃO NOS MATAR AGORA
JOTA MOMBAÇA, COBOGÓ, 2021
Artista assume a palavra como ferramenta de crítica, combate e resistência para afirmar que de um corpo estilhaçado nascem razões para perseverar.
DIGO E TENHO DITO
ANNA MARIA MAIOLINO, PAULO MIYADA E PALOMA DURANTE, UBU, 2022
A poesia, considerada por Maiolino como alicerce e “centelha divina” do ato criativo – ou puro pensar –, é compartilhada neste livro de textos autorais da artista.
TEORIA KING KONG
VIRGINIE DESPENTES, N-1 EDIÇÕES, 2016
Dedicado a todas as mulheres que não se enquadram, Despentes defende um novo feminismo ao detalhar no vício, no defeito e no feitiço como ser uma King Kong girl.
> SITE NOVO, LOJA NOVA
CARTAZES BOOKZINE MÚLTIPLOS


A LOJA é uma ação em prol do jornalismo cultural independente da seLecT_ceLesTe. Ao adquirir um cartaz, um livro ou um múltiplo, você apoia a reflexão e a produção de conhecimento sobre arte no Brasil.

SELECT.ART.BR/PRODUTOS

BAGAGEM
VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023 172
CONTINUA EM WWW.SELECT.ART.BR >
Uma biblioteca de ficção, não ficção e gêneros indefiníveis, composta de pensadores, poetas e artistas que nos serviram de faróis para as viradas
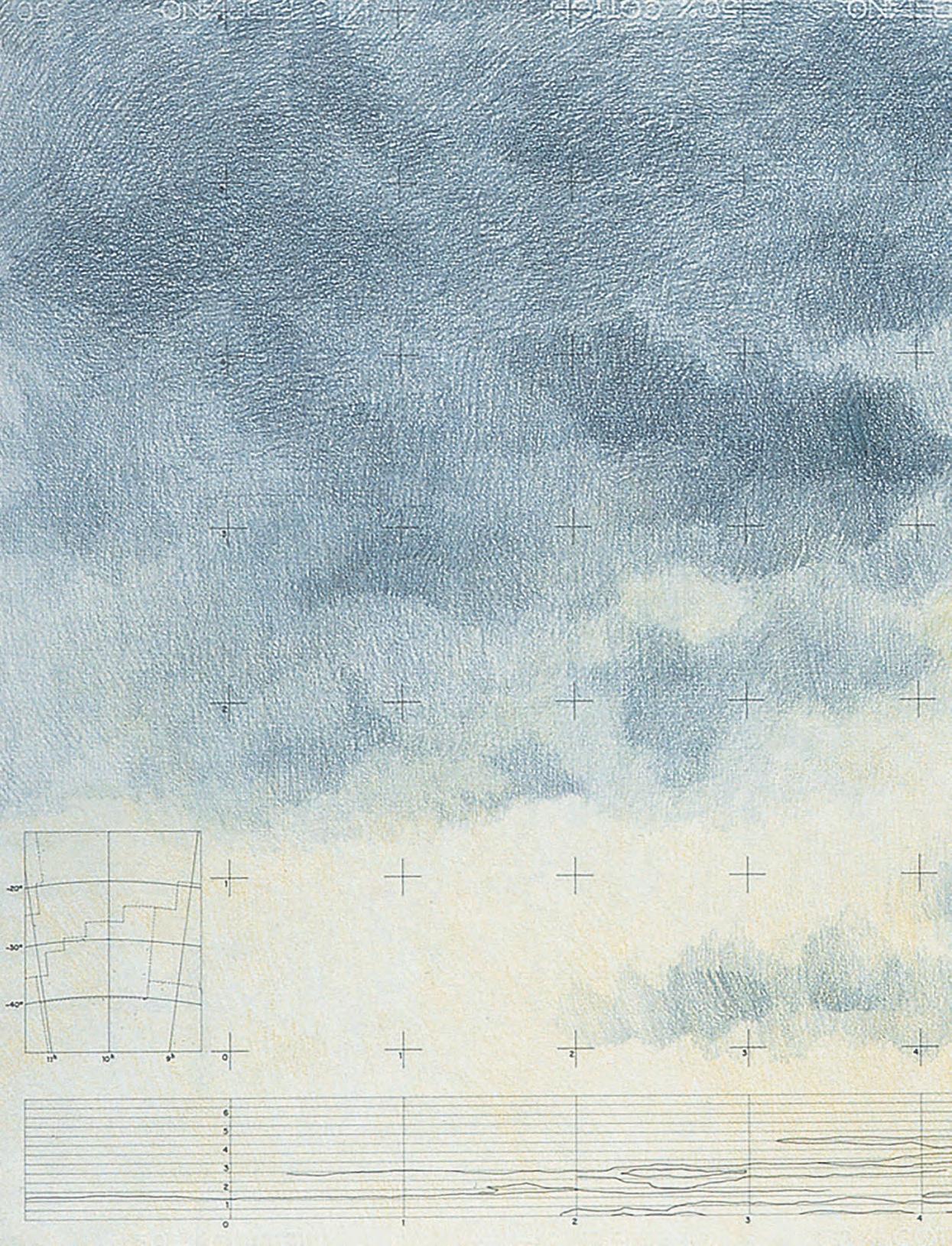























































































 ELOISA ALMEIDA
ELOISA ALMEIDA

 O Azul do Céu Uns 10 Minutos Antes de Escurecer É Bonito (2022), de Lucas Almeida
O Azul do Céu Uns 10 Minutos Antes de Escurecer É Bonito (2022), de Lucas Almeida






































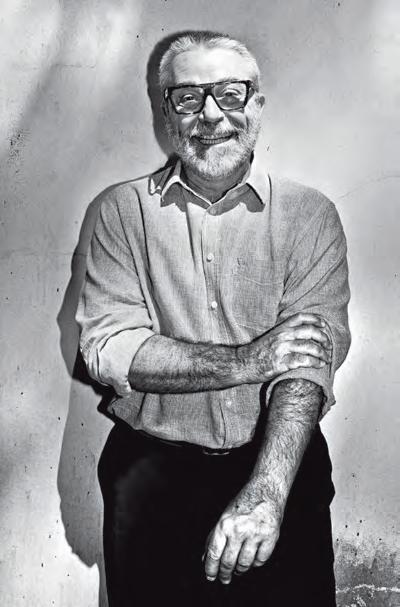











 PAULA ALZUGARAY
PAULA ALZUGARAY