
Revista da Associação Religiosa Israelita do Rio de Janeiro – ARI Ano 9, n° 23, Abril de 2014 Os desafios do rabinato entre comunidade e espiritualidade Rabino David Ellenson Minhas memórias de Ben-Gurion Vittorio Corinaldi Os desafios do rabinato entre comunidade e espiritualidade Rabino David Ellenson Minhas memórias de Ben-Gurion Vittorio Corinaldi A mesa, o cálice Rabino Sérgio Margulies Arik Einstein: o ato de cantar é poesia Rafael Stern E Deus viu que não era bom Raul Cesar Gottlieb A tragédia do casal Egressi Fábio Koifman Ética e Torá é a mesma coisa? Rabino Dario Bialer Israel: Estado judaico e democrático Paulo Geiger Os conflitos entre liberais e ortodoxos Rabino Rifat Sonsino A pele de Auschwitz e a obra de Charlotte Delbo Nathalia C. B. Sacks A mesa, o cálice Rabino Sérgio Margulies Arik Einstein: o ato de cantar é poesia Rafael Stern E Deus viu que não era bom Raul Cesar Gottlieb A tragédia do casal Egressi Fábio Koifman Ética e Torá é a mesma coisa? Rabino Dario Bialer Israel: Estado judaico e democrático Paulo Geiger Os conflitos entre liberais e ortodoxos Rabino Rifat Sonsino A pele de Auschwitz e a obra de Charlotte Delbo Nathalia C. B. Sacks devarim devarim
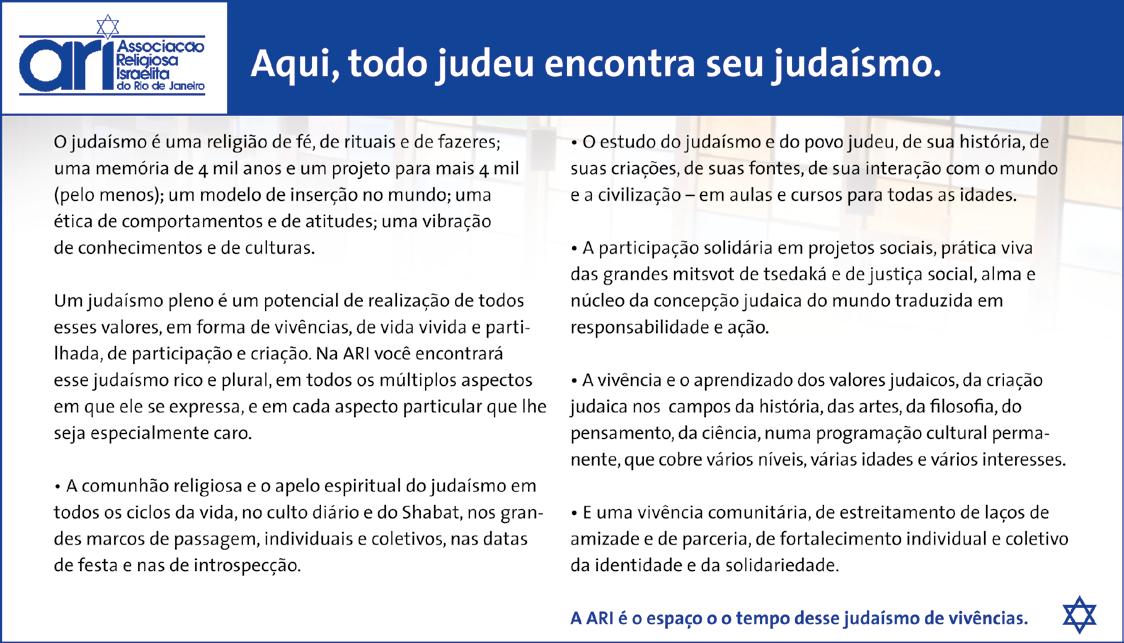

Dois estados para dois povos” é o bordão que resume o objetivo processo de paz entre Israel e o mundo árabe. As palavras sintetizam a convicção que a construção de um Estado Palestino ao lado do Estado de Israel trará a concórdia para a região.
Contudo, eu acredito que este conceito foi ultrapassado pelos acontecimentos há algum tempo e que seria benéfico reconhe cer a realidade dos fatos: já existem quatro Estados, com diferen tes realidades institucionais, para os dois povos daquela região.
De um lado há o Estado de Israel, que é o único país do povo judeu. Neste país moram mais de um milhão de árabes (mu çulmanos e cristãos), que constituem 20% da população geral, mas o certo é que, mesmo assim, ele é um Estado majoritaria mente judaico e que se define inequivocamente como tal. Do outro lado temos três Estados uniformemente povoados ape nas por árabes.
Em ordem cronológica de formação, o primeiro deles é o Reino Hashemita da Jordânia, constituído pela Liga das Nações em setembro de 1922 com o nome de “Transjordânia”, numa parte do Mandato Britânico para a Palestina, que foi estabeleci do logo após a Primeira Guerra Mundial.
O segundo Estado está em formação e se chama “Palesti na”. Ele foi instituído pelos acordos de Oslo de 1993, que pre veem estágios de negociação até o estabelecimento formal do Estado Palestino.
As negociações são lentas e complexas com ambos os lados trocando acusações sobre o responsável por emperrá-las. A com plexidade do processo não diz respeito apenas a fronteiras e se gurança, aos recursos a serem compartilhados e ao destino das populações. Existem também questões de legitimidade dos ne gociadores. Por exemplo, o mandatário da ANP está neste mo mento no décimo ano do mandato de quatro anos para o qual foi eleito e não se sabe se ele representa todos os palestinos. Con tudo, nada disso altera o fato que há neste momento uma ad ministração efetiva da Autoridade Nacional Palestina (ANP) em boa parte do território.
O terceiro Estado árabe na região foi constituído de fato em 2005 com a retirada israelense da Faixa de Gaza, que passou a ser um Estado em tudo menos no nome. Existe em Gaza um gover no com controle total e indisputado sobre o território. Este go verno mantém uma guerra aberta com o objetivo de aniquilação
total de seu vizinho Israel, uma relação surdamente conflituosa com seu vizinho Egito e uma inimizade figadal com a ANP, que impede qualquer colaboração entre ambos.
A existência de três Estados árabes na região evidencia o sec tarismo que impera no mundo árabe e que, para a desgraça de Israel e dos próprios árabes, não os capacita para a formação de modernos Estados funcionais, o que permitiria seu desenvolvi mento e a saudável convivência, inclusive com Israel.
Temos de fato quatro Estados para dois povos e, a meu ver, o fato dos três Estados árabes serem originados do Mandato Bri tânico para a Palestina faz de todos eles Estados palestinos. Al guns irreverentes sugerem até mesmo chamá-los de “Palestina Hashemita”, “Palestina do Leste” e “Palestina do Oeste”, res pectivamente. Mas isto é, evidentemente, uma irreverência, pois cabe a cada um nomear-se como bem entende. O que não tem graça nenhuma é o fato dos três Estados árabes palestinos se rem hostis entre si.
É evidente que não se pode ignorar o fator Israel na divi são dos palestinos em três Estados, pois o espetacular sucesso do Sionismo imprimiu marcas significativas em toda a região. Mas a ampliação do leque de visão um pouco mais além da Palesti na vai encontrar violentas e cruéis lutas fratricidas acontecendo na Síria, no Iraque e no Líbano. De fato, a maioria dos países árabes experimenta uma constante precariedade de equilíbrio político. Em muitos casos apenas a repressão tirânica contém a violência sectária e a chamada Primavera Árabe suscitou gran des expectativas ainda não realizadas. E nada disso é uma novi dade deste século ou do século passado. O sectarismo do mun do árabe antecede em muitíssimos séculos o Sionismo político, não é, portanto, resultado do nacionalismo e judaico ou do es tabelecimento do Estado de Israel em 1948, visão equivocada e largamente difundida.
A conclusão que eu tiro deste cenário é que a solução não passa por “dois Estados para dois povos”, visto que existem dois povos, quatro Estados e muito pouca paz. A meu ver, a solução passa em primeiro lugar pelo “des-sectarismo” (se me permitem o termo) da política árabe e num subsequente esforço de demo cratização. Estes são os pontos de partida para a fraternidade en tre os árabes e depois dela, certamente, teremos a paz. O pro blema é fazer o Secretário Kerry, o Presidente Obama e as de mais cabeças pensantes da diplomacia mundial entenderem isto.
Raul Cesar Gottlieb – Diretor de Devarim
Revista da Associação Religiosa Israelita- ARI | devarim | 1 editorial
“
Revista Devarim Associação Religiosa Israelita do Rio de Janeiro – ARI Ano 9, n° 23, Abril de 2014
P R es I dente d A ARI Ricardo Gorodovits
R A b I nos d A ARI sérgio R. Margulies dario e bialer
dIR eto R d A Rev I stA Raul Cesar Gottlieb
Conselho e d I to RIA l beatriz bach, bruno Casiuch, Rabino dario e bialer, Germano Fraifeld, henrique Costa Rzezinski, Jeanette erlich, Marina ventura Gottlieb, Mario Robert Mannheimer, Mônica herz, Paulo Geiger, Raphael Assayag, Raul Cesar Gottlieb, Ricardo Gorodovits, Rabino sérgio Margulies.
e d I ção editora narrativa Um e d I ção de A Rte Ricardo Assis (negrito Produção editorial) tainá nunes Costa
F oto GRAFIA de CAPA Photoguy707 (istockphoto.com)
t RA d U ção teresa Cetin Roth

Rev I são de t exto Mariangela Paganini (libra Produção de textos)
Colaboraram neste número: Rabino david ellenson, Rabino dario e bialer, Fábio Koifman, nathalia C. b. sacks, Paulo Geiger, Rafael stern, Rabino Rifat sonsino, Raul Cesar Gottlieb, Rabino sérgio R. Margulies e vittorio Corinaldi.
os artigos assinados são de responsabilidade intelectual de seus autores e não representam necessariamente a opinião da revista devarim ou da ARI.
os critérios para grafar palavras em hebraico e transliterá-las para o português seguem as seguintes regras: (a) chet e chaf tornam-se ch; (b) tsadik é ts; (c) hei final acentua a vogal e desaparece; (d) kaf e kuf são k; (e) não usamos hífen ou apóstrofe em casos como ledor, em vez de le-dor, e beiachad, em vez de b’iachad e (f) palavras em hebraico de uso corrente na ARI não estão em itálico.
A revista devarim é editada pela Associação Religiosa Israelita do Rio de Janeiro www.arirj.com.br www.devarim.com.br
Administração e correspondência: Rua General severiano, 170 – botafogo 22290-040 – Rio de Janeiro – RJ telefone: 21 2156-0444
A contracapa de devarim é uma criação baseada no slogan do Movimento Reformista de Israel – IMPJ
devARIm [hebraico] Plural de davar, sm. 1 Coisas, todas as coisas, ou algumas coi sas, ou as que interessam. 2 Palavras, não só as palavras em si (seria então mi lim), mas os signos de coisas, ideias, conceitos, pensamentos. 3 O quinto e úl timo livro da Torá, sua recapitulação pós-mosaica, soma das palavras e das coi sas. 4 Revista da ari, onde as palavras recapitulam o judaísmo milenar em sua inserção planetária e contemporânea.
sumário
Os desafios do rabinato entre comunidade e espiritualidade Rabino David Ellenson 3
A mesa, o cálice Rabino Sérgio Margulies 9
Ética e Torá é a mesma coisa? Rabino Dario Bialer 15
Minhas memórias de Ben-Gurion, o “B.G.” Vittorio Corinaldi 23
Arik Einstein: transformando o ato de cantar em poesia Rafael Stern 28
Relações inter-religiosas e os conflitos entre liberais e ortodoxos Rabino Rifat Sonsino 37
E Deus viu que não era bom Raul Cesar Gottlieb 43
A pele de Auschwitz: a importância da comunidade no suporte ao insuportável na obra de Charlotte Delbo Nathalia C. B. Sacks 51
A tragédia do casal Egressi no Rio de Janeiro em 1940 Fábio Koifman 57
Israel: Estado judaico e democrático Paulo Geiger......................................................................................... 63
................................................................................
..........................................................................................
...........................................................................
.............................................................................
.....................................................................................
o s desafios do rabinato entre comunidade e espiritualidade

As origens do rabinato enquanto profissão estão envoltas nas brumas da antiguidade. Enquanto a tradição judaica identifica Moisés como “Moshé Rabeinu” / “Moisés, nosso Rabino”, a própria Bíblia nunca o identifica como tal e nem ao menos a palavra rabino aparece nas escrituras judaicas. O termo só surge séculos após a Bíblia ter sido escrita, no início da Era Comum.
Do ponto de vista da crítica histórica, a identificação de Moisés como “Ra beinu” representa uma tentativa dos primeiros rabinos – cujo mandato, confor me relatado no Pirkei Avot 1:1, é estabelecido por uma árvore genealógica que se eleva até ao próprio Moisés – de embasar suas origens e sua autoridade nas es feras mais antigas da literatura judaica, a Bíblia. Ao conceber aquela árvore ge nealógica, os rabinos de tradição clássica orgulhosamente proclamaram Moisés como um dos seus e despudoradamente o coroaram com o título de “Rabino”.
Apesar da falta de historicidade que marca esta clássica alegação rabínica, as funções que os rabinos acabariam por preencher como juízes da lei judaica e como intérpretes das sagradas escrituras estão solidamente amparadas pela Bí blia. Por exemplo, em Devarim / Deuteronômio 17:8, lê-se: “E levantar-te-ás e subirás ao lugar que escolher o Eterno... e virás aos sacerdotes e ao juiz que estiverem encarregados naqueles dias e indagarás... e te anunciarão a sentença ao juízo”. Já em Neemias 8 encontra-se: “E no primeiro dia do sétimo mês, Ezra o sacerdote trouxe a Torá perante a congregação composta por homens e mu lheres, todos capacitados a compreender o que lhes foi apresentado. E a leu aos ouvidos de todo o povo e estavam atentos à Torá”.
Por volta de 70 e.c, o culto religioso judaico não estava mais preso a um único lugar, por mais sagrado que este fosse. A Torá passava a ser o centro do judaísmo, e os rabinos, seus intérpretes. Assim, o judaísmo passou a ser uma religião totalmente “portátil”.
James Brey / iStockphoto.com
rabino david ellenson
Revista da Associação Religiosa Israelita- ARI | devarim | 3

Spanishalex / iStockphoto.com
Apesar de tudo isto o rabinato como profissão só veio a ser estabelecido no pri meiro século da Era Comum. Pouco de pois que os romanos destruíram o Segun do Templo, por volta de 70 E.C., e o con sequente fim dos sacrifícios como modo maior de culto e religiosidade no Templo, Iochanan Ben Zakai fundou sua famosa academia rabínica em Iavne. Segundo a lenda judaica, Raban Iochanan Ben Zakai teria dito às autoridades romanas: “Con cedam-me Iavne e os sábios”, e assim te ria nascido o judaísmo rabínico e o rabi nato como profissão.
O rabinato enquanto profissão e as funções atribuídas ao rabino evoluíram com o passar dos séculos, mas a tarefa básica do rabino, que é a de interpretar os textos judaicos e ensiná-los ao povo judeu, mantem-se constante desde sempre.
O culto religioso judaico não estava mais preso a um único lugar, por mais sa grado que este fosse. A Torá – os textos sagrados – passava a ser o centro do judaísmo, e os rabinos, seus intérpretes. Assim, o judaísmo passou a ser uma religião totalmente “portátil” e o rabino passou a ser a figura incumbida da res ponsabilidade e credenciada com a autoridade para ensinar e interpretar a sabedoria inerente a estes textos ao povo.
O rabinato enquanto profissão e as funções atribuídas ao rabino evoluíram com o passar dos séculos, mas a ta refa básica do rabino, que é a de interpretar os textos ju daicos e ensiná-los ao povo judeu, mantém-se constante desde sempre. E é na tradição sefaradi que vamos encon trar o sentido mais abrangente do que é o rabinato en quanto profissão.
Na tradição religiosa sefaradi, o rabino recebe costu meiramente três títulos, cada um dos quais reflete um as pecto diferente da sua função. Um rabino é inicialmente definido como um professor de textos judaicos, um “Mar bitz Torá”, aquele que difunde o conhecimento da Torá. O rabino deve possuir um profundo conhecimento da Torá, pois este conhecimento será a fonte de sua autoridade e li derança. A Torá estabelece os alicerces que permitirão ao rabino compartilhar os valores e os pontos de vista da tra dição judaica com o povo judeu e outros. Não é possível exercer uma autêntica liderança judaica sem este conhe cimento. O rabino precisa compreender que o judaísmo é um “diálogo” que se estende por gerações. Ou, citando um artigo do falecido rabino David Hartman intitulado “O Judaísmo Enquanto Tradição Interpretativa”: o rabi no deve encarar e apresentar o judaísmo como uma tradi
ção dinâmica e interpretativa, e rabinos só podem fazer isto se tiverem conhecimen to profundo da Torá. Portanto, este co nhecimento permanece sine qua non para o rabinato.
No entanto, na qualidade de “Marbitz Torá” – aquele encarregado de disseminar a Torá e suas mensagens para as gerações de judeus que o cercam e as que virão – o rabino também precisa saber ouvir os outros, especialmente aqueles a quem serve e orienta. É nessa linha que a tradição se faradi também identifica o rabino como um “chaver há ir”, um membro da comu nidade. Todos os grandes líderes judaicos – de Moshé Rabeinu ao rabino Leo Ba eck, o último líder do povo judeu na Alemanha, devida mente eleito durante os dias trágicos do Holocausto – ti veram como marca um amor imortal pelo povo de Israel. É necessário que um rabino esteja envolvido naturalmen te como elemento participativo, ativo e de apoio nos assuntos públicos e privados da vida judaica. Os rabinos não podem manter-se distantes daqueles a quem irão servir e orientar e precisam abraçar e acarinhar suas comunidades e a todos os que delas fazem parte.
Finalmente, o rabino é definido como “chacham” / “sá bio”, talvez a função mais difícil de ser desempenhada. É necessário que o “chacham” vá além do conhecimento que adquiriu para se desincumbir como “Marbitz Torá”. Na verdade o “chacham” deve ter a habilidade de se tornar uma pessoa sábia, capaz de aplicar e modificar o conheci mento adquirido através de seu estudo dos textos da Torá com empatia e preocupação para com seus semelhantes ju deus e suas vidas.
Em resumo, o “chacham” deve ser aquele que sabe ouvir as alegrias e tristezas do próximo, o que exige que o “chacham” seja suficientemente forte para reconhecer que ele próprio é vulnerável, e por isso mesmo precisa abrir-se e buscar o apoio de outros. Assim, não se pode estra nhar que o Talmud defina o “chacham” como “aquele que aprende com todas as pessoas”.
É claro que atualmente os rabinos funcionam em um mundo radicalmente diferente daquele de seus predeces sores medievais e até mesmo do início da era moderna, e é preciso levar este fato em conta quando se trata de instruir
Revista da Associação Religiosa Israelita- ARI | devarim | 5
rabinos para o século XXI. Estas diferenças foram evidenciadas pelo sociólogo Pe ter Berger ao identificar as premissas bási cas presentes no pensamento do mundo ocidental. Em sua obra The Heretical Im perative” (1975), Berger demonstra que a mais pura essência da cultura moderna ocidental é o fato de que a “haeresis” (op ção ou escolha) se tornou inevitável.
A modernidade se caracteriza pelo fato de que opções ou escolhas impensáveis no passado passaram a ser aceitáveis de ma neiras inimagináveis há apenas uma ge ração. As escolhas crescem em um ritmo vertiginoso. As pessoas se mudam de suas cidades natais, mulheres passam a fazer parte do clero, gays e lésbicas “saem do ar mário”. Podemos multiplicar estes exem plos mil vezes e, segundo Berger, é esta a marca do mun do moderno. A modernidade é marcada pelo movimen to “do destino à escolha”, conforme suas felizes palavras.
É necessário que um rabino esteja envolvido naturalmente como elemento participativo, ativo e de apoio nos assuntos públicos e privados da vida judaica. Os rabinos não podem manter-se distantes daqueles a quem irão servir e orientar e precisam abraçar suas comunidades.
No caso dos judeus, a análise de Ber ger ajuda a explicar porque entramos numa situação pós-moderna na qual cor rentes antípodas – onde proporções re corde de não afiliação e de abandono da identidade e religião judaicas no ociden te e o secularismo em Israel competem com intensos bolsões de compromisso e conhecimento judaicos – marcam a situ ação contemporânea judaica.
Por um lado, a modernidade, tal como a descreve Ber ger, é libertadora. Liberta as pessoas das algemas de uma cultura desacreditada e de uma tradição que definia pa péis e expectativas de maneira estreita e limitadora. Por ou tro lado, também deixa as pessoas desnorteadas, ou, como afirma Berger em outra de suas obras, “sem teto”. Em The Homeless Mind (1973), Berger e os coautores – sua esposa Brigette e Hansfried Kellner – argumentam que a moderna condição de escolha, o deslocamento que marca aque les que partem em busca de oportunidades de carreira e de melhoria socioeconômica, também deixou muitas des tas pessoas sem um sentido seguro de raízes e estabilida de. Enquanto muitos foram emancipados ou expulsos dos limites de culturas tradicionais, outros experimentaram a sensação de anomia e alienação própria do “estado de sem teto”. As mentes e os corações destes ficaram cheios de res trições e incertezas.
O paradoxo do mundo moderno é que ele tanto des trói como gera comunidade e tradição. Ele rompe os elos e as estruturas que ligavam as pessoas às práticas e às per cepções do passado, ao mesmo tempo em que permite que as pessoas as experimentem e voltem a uma tradição que nunca conheceram para descobrir a segurança e o confor to que esta tradição promete oferecer.
O pluralismo da situação moderna e a espantosa variedade de escolhas que a modernidade nos oferece levam muitos de nós a abandonar o judaísmo. Simul taneamente, faz com que muitos outros, por viverem dentro de uma estrutura plu ralista, procurem o judaísmo em sua bus ca por um sentido de sabedoria, seguran ça e identidade que a religião e tradição judaicas podem estender aos seus afiliados comprometidos. Há meros 40 anos a função do judaísmo não era esta, assim que precisamos levar em conta esta novíssima situação na história judaica ao treinarmos nossos rabinos.
O grande filósofo do direito Ronald Dworkin, em seu trabalho magistral Law’s Empire, alegou que a me lhor maneira de conceber a “Lei” é como “uma nove la em capítulos”, em que cada geração de juristas escreve “um novo capítulo”. Cada geração se esforça para ser fiel ao passado, isto é, ao “enredo herdado”, para se manter em “sintonia” com o passado. Contudo, cada nova gera ção tem, inevitavelmente, o seu próprio contexto e se de para regularmente com situações novas, o que faz com que necessite conceitualizar e reconfigurar as preocupa ções passadas segundo sua própria maneira, possibilitan do-a guiar a comunidade no presente e apontar um caminho para o futuro.
Considero a metáfora da “novela em capítulos” apre sentada por Dworkin bastante útil para a comunidade judaica contemporânea na luta para superar os desafios que a nossa época nos apresenta. A nossa comunidade é, em sua maior parte, formada por pessoas que escolhem livre mente participar dela – até mesmo em Israel isto é assim. A participação dos judeus na vida do nosso povo e na nos sa religião não pode ser nem coagida nem assumida – ela é totalmente voluntária.
6 | devarim | Revista da Associação Religiosa Israelita- ARI
James Brey / iStockphoto.com
Sim, as pessoas demonstram as mesmas necessidades de sempre por espiri tualidade e comunidade. Muitos judeus, como não judeus, ainda almejam por identificação com algo maior do que eles próprios. Nesta situação humana e cultu ral, muitos se voltarão para o judaísmo e buscarão a inspiração e os caminhos que os rabinos podem indicar levando-os a vi das de significado pessoal e comunitário. Estes judeus ainda precisarão de “klei ko desh” – recipientes sagrados – que possam servir como seus rabinos. Eles se voltarão para esses rabinos em busca da sabedoria e do conhecimento, assim como buscarão neles o cuidado e a direção que o rabino pode oferecer ao nosso povo na mesma intensidade que seus ancestrais fizeram.

O paradoxo do mundo moderno é que ele tanto destrói como gera comunidade e tradição.
Ele rompe os elos e as estruturas que ligavam as pessoas às práticas e às percepções do passado, ao mesmo tempo em que permite que as pessoas as experimentem e voltem a uma tradição que nunca conheceram.
Enquanto os rabinos de hoje e de amanhã lidam e li darão com uma comunidade que vivencia um mundo
certamente diferente do mundo de on tem, é igualmente certo que a coisa ju daica vai permanecer divina e nela o ra bino continuará a liderar o nosso povo em direção ao sacro e à comunidade sa grada. Rabinos construirão com base no passado e mapearão novas direções e di ferentes formas de organização para o nosso povo no futuro.
O rabino David Ellenson é reitor do Jewish Ins titute of Religion do Hebrew Union College, aca demia dedicada à formação de rabinos do Movi mento Reformista.
Traduzido por Teresa Cetin Roth.
Nota do Tradutor: Citações da Bíblia segundo o texto de Bíblia Hebraica, de David Gorodovits e Jairo Fridlin, edita da em 2006 pela Editora Sefer.
Revista da Associação Religiosa Israelita- ARI | devarim | 7

Seanfboggs / iStockphoto.com
a mesa, o cálice
A importância de um sistema organizado para que a vida possa se manifestar é descrita no primeiro ato divino, conforme relato da Torá: a criação do mundo. Esta criação é a celebração do Seder/ordem de Deus e transformou a condição da terra de “tohuvavohu”, “vã e vazia”, para organizada e estruturada.
rabino sérgio margulies
Na celebração em torno da mesa da festa de Pessach o rabino Akiba Eiger (Alema nha, século 15) liderava o Seder. Um dos convidados deixou cair vinho na mesa.
O rabino imediatamente disse: a mesa deve estar bamba, fora de equilíbrio.
A comemoração de Pessach, que recorda o rompimento da escravidão e o vislumbrar da liberdade, é denominada Seder. A palavra hebraica ‘Seder’ significa ordem. Sem ordem a liberdade perde seu propósito e nos remete para o caos. Para que, de modo livre, possamos viabilizar os sentidos mais profundos da existência é necessária uma estrutura organizada.
Seguir no deserto como na travessia da escravidão à liberdade – ou seguir na jornada da vida – sem que haja uma estrutura é tornar-se um andarilho perdi do. Uma estrutura organizada provê referências e evita os passos a esmo de um peregrino desorientado lhe mobilizando com o senso de propósito.
Tal como o povo judeu em sua jornada pelo deserto, cada nação e indivíduo pode ser remetido a um estado em que o potencial da vida é anulado se faltar uma referência. Nestes casos somos arremessados à paralisia – nada a buscar –ou impulsionados a uma correria desenfreada – sem saber o que buscar. Des providos de referência transitamos entre os extremos da depressão e da euforia, mas nenhuma vida plena e significativa é realizada.
A importância de um sistema organizado para que a vida possa se mani festar é descrita no primeiro ato divino, conforme relato da Torá: a criação do mundo. Esta criação é a celebração do Seder/ordem de Deus e transformou a condição da terra de “tohuvavohu”, “vã e vazia” [Bereshit/Gênesis 1:2], para or ganizada e estruturada.
Revista da Associação Religiosa Israelita- ARI | devarim | 9
O livro de reza judaico é denominado ‘sidur’, termo oriundo da palavra ‘Se der’. A oração nos conscientiza sobre a importância de um mundo organizado e nos convida para atuar em parceria com Deus na renovação dos baluartes desta ordem. Uma das orações diárias afirma: ‘Renove sempre os Teus feitos da criação’. O pedido é de que os elementos de clare za que a ordem da criação proveu sejam parte permanente de nossas vidas.
A ansiedade é aplacada e o medo ate nuado através de uma estrutura organi zada. A agonia da incerteza encontra res paldo na previsibilidade das categorias classificatórias desta estrutura. No en tanto, o imprevisível acontece: o vinho é derramado. A vida se depara com obs táculos antes não imaginados. A ordem é ameaçada. A clareza torna-se névoa
Inimigo é aquele cuja história não conhecemos. Conhecer requer diálogo do qual emerge aprendizado.
Porém, para que conhecer o inimigo?
Afinal, enquanto não conhecermos o inimigo e dele não aprendermos, a razão absoluta sempre estará conosco. A verdade terá dono. Não pertencerá à esfera do domínio compartilhado.
densa. A luz da criação que nos permi te enxergar o caminho da vida se extin gue, as referências que davam segurança se desmantelam. O vinho cai. A vida escapa e, como o copo, fica vazia. Torna -se “vazia e vã”, “tohuvavohu”. Caótica. Sem parâmetros.
Se com a ordem da criação estabe lecida éramos parceiros de Deus, dian te de seu desmantelamento nos sentimos como o personagem bíblico Iov [Jó], que em seu tormento indaga sobre o abando no de Deus. O poeta Haroldo de Cam pos (Brasil, 1929-2003) acrescenta: se na ordem da criação o ser humano controla va os animais, através de Iov [Jó] “é leva do a perceber que é uma criatura – sim ples e frágil criatura – entre outros seres criados, e que seu ângulo de visão não dá conta das leis que engendram a espanto

Automaton1 / iStockphoto.com
sa harmonia do cosmo e que governam o mundo...”. Per cebemos que não temos o poder que julgávamos. A rédea da vida nem sempre está em nossas mãos.
O vinho caiu. A vida foi derramada. Quem é o respon sável? Um culpado deve ser encontrado para que a estru tura seja retomada, a normalidade volte e a sensação de controle seja restaurada. Encontrando um culpado, o sis tema fica restabelecido e a ansiedade coletiva apaziguada. O culpado é retirado do convívio, alijado e rejeitado. Fora da mesa do Seder, aquele a quem a culpa foi atribuída, tor na-se o diferente não aceito. Tudo volta a ficar claro e de finido. Tão somente é esquecido que “a diferença é uma condição, é um requisito para toda dignidade e liberdade”. (Albert Memmi, Túnisia-França, 1921-).
O vinho caiu. A estrutura foi ameaçada. Algo de erra do aconteceu. Que seja apontado um culpado. Um ini migo que possa ser acusado. O inimigo é uma ameaça, mas frequentemente também é uma fonte de benefício: “Ter um inimigo é importante não somente para definir nossa identidade, mas também para... demonstrar nosso valor”. (Umberto Eco, Itália, 1932-).
Inimigo é aquele cuja história não conhecemos. Co nhecer requer diálogo do qual emerge aprendizado. Po rém, para que conhecer o inimigo? Afinal, enquanto não conhecermos o inimigo e dele não aprendermos, a razão
absoluta sempre estará conosco. A verdade terá dono. Não pertencerá à esfera do domínio compartilhado.
Vozes não harmonizadas com a proclamada verdade absoluta devem ser caladas. Ou, ao menos, não escutadas. Escutá-las seria um ato de heresia. Os portadores da men sagem falsa são considerados hereges; os veiculadores da verdade absoluta, sacros. A verdade envolta de absolutis mo e sacralidade permite definições claras e aceitação con tundente. Com a referência reafirmada, a segurança é assegurada e o conforto da estabilidade, provido.
No Seder não comemos alimento fermentado do mes mo modo que somos instruídos a não fermentar a inimizade com o intuito de fortalecer as convicções. As convicções são testadas através de perguntas. Assim, a narrativa do Seder é interrompida pela recitação de per guntas. O que vale na recordação da travessia pelo deserto também se aplica na jornada da vida.
Deixar-nos permear pelas indagações não abala a fé. O rabino Irwin Kula (EUA, 1957-) sugere que a fé não se sustenta por verdades inquestionáveis e sim por dúvidas. As certezas, sobretudo em relação às questões mais profun das da existência humana, podem ser revistas num apren dizado em que a humildade é um valor espiritual.
No Seder há um condutor do ritual e muitos interlo
 Madzia71
iStockphoto.com
Madzia71
iStockphoto.com
Revista da Associação Religiosa Israelita- ARI | devarim | 11
cutores. Um relata a narrativa e vários são convidados a participar com perguntas e respostas. Semelhantes ou destoantes, es tas respostas convivem umas com as ou tras. A ordem é fortalecida por este con vívio plural e diverso, pois adquire várias estacas e não depende de somente uma.
Ovinho caiu. Não há culpado. A mesa estava bamba, explica o rabino. As sim, qualquer um que estava lá sentado em torno daquela mesa poderia ter derra mado o vinho. Acontece. Nestas situações de acasos e incidentes a relevância de um adicional valor espiritual: solidariedade.
Na mesa do Seder um copo de vinho destinado a Eliahu há-navi [profeta Elias] que, segundo a literatura rabínica, anun ciará a Era messiânica. Enquanto o anún cio não vem, o cálice torna-se símbolo de solidariedade. Quem derramou o vinho tem outro cálice à sua disposição, pois na mesa há um copo extra. Cada vez que comparti lhamos algo num gesto de responsabilidade mútua estamos manifestando que parte desta Era acontece em nossa época.

Deixar-nos permear pelas indagações não abala a fé. O rabino Irwin Kula sugere que a fé não se sustenta por verdades inquestionáveis e sim por dúvidas. As certezas, sobretudo em relação às questões mais profundas da existência humana, podem ser revistas num aprendizado em que a humildade é um valor espiritual.
mesa pode estar bamba e prontificar-se a fazer este anúncio nem que seja como mera hipótese em função das circunstân cias.
Uma reflexão talmúdica: E se a mesa não estiver bamba? Afinal, seria perigoso dizer que estava bamba se de fato não es tivesse, pois isto poderia manchar a repu tação do carpinteiro que fez a mesa. As sim, talvez fosse o piso que não estivesse alinhado. Mas se estivesse alinhado esta ríamos maculando a imagem dos cons trutores daquele recinto e se, por outro lado, estivesse desalinhado não devería mos evitar a condenação pública? Talvez tudo se deva ao fato da terra ter sofrido um pequeno abalo sísmico. Se assim foi, como somente afetou uma pessoa? E não deveria ter sido feita uma análise geoló gica? Talvez não houvesse nenhuma falha geológica. En tão olhamos para Deus, Criador da Terra, e se crermos que Ele é a fonte do desvio imprevisível da camada ter restre que igualmente olhemos o copo de Seu mensageiro.
Quando a ordem da vida for inesperadamente rompida e o desespero tomar conta, quando a dúvida surgir em função de situações que não conseguimos compreender, quando os passos cambalearem por adversidades inimagi náveis, quando as convicções forem abaladas e quando a vida desabar, que um novo cálice de esperança e apoio seja compartilhado. Para tanto, é necessário considerar que a
Para certas situações e certas perguntas a resposta vem sob a forma de responsabilidade compartilhada. Associar a palavra responsabilidade com o verbo responder é mais do que um exercício linguístico. É um intenso esforço espiritual que renova a esperança num novo Bereshit/come ço para vidas cujo Seder/ordem se fragmentou.
Sérgio R. Margulies é rabino e serve à Associação Religiosa Israelita do Rio de Janeiro – ARI.
Zepperwing iStockphoto.com
12 | devarim | Revista da Associação Religiosa Israelita- ARI
/


CONHEÇA O PROJETO LEGADOS DO FUNDO COMUNITÁRIO. Perpetue seu nome e de sua família através da solidariedade com o povo de Israel PARA MAIS INFORMAÇÕES: fc@fcrj.org.br ou ligue para 21 2257.2556 -ramal 26 e marque uma conversa com Rosane, nossa ativista especializada ISRAEL O seu presente é o futuro das próximas gerações

3bugsmom / iStockphoto.com
Ética e torá É a mesma coisa?
rabino dario bialer
“613 mitsvot foram dadas a Moshé, 365 negativas, correspondendo aos dias do ano, e 248 positivas, correspondendo às partes do corpo humano.” O midrash prossegue mostrando que em cada geração elas foram reduzidas a um número menor de princípios básicos: Michá veio e as condensou em três: “Foi dito a ti, ó homem, o que é bom e o que o Eterno requer de ti – apenas que faças justiça, que ames a compaixão e que caminhes humildemente com o teu Deus” (6:8).
Isaías veio e as condensou em duas: “Mantenha a justiça e a retidão” (56:1). Amós veio e a condensou em uma: “Me procure e viva!” (5:4).
(Talmud Makot, 24a)
Pouco tempo atrás recebi de presente o livro A Revolução da Torá. As 14 verdades que mudaram o mundo. Bom título para um bestseller, pensei. Assim, comecei a ler não tanto pelo tom marqueteiro do títu lo, mas porque conhecia o autor. Tínhamos frequentado as mesmas Assembleias Rabínicas algumas vezes. Reuven Hammer, um renomado rabino americano.
Cheguei à terceira verdade revolucionária: #3 A moralidade é a demanda su prema para todos os seres humanos. O ritual é secundário para uma conduta íntegra. Deixou-me pensando o rabino Hammer.
Quem é que demanda aos seres humanos? Deus? Deus é sempre ético? Torá e ética são a mesma coisa? São idênticos os caminhos para uma vida mo ral e a halachá?
Quem é que demanda aos seres humanos? Deus? Deus é sempre ético? Torá e ética são a mesma coisa? São idênticos os caminhos para uma vida moral e a halachá?
Revista da Associação Religiosa Israelita- ARI | devarim | 15
Essas perguntas são as que guiaram o desenvolvimento deste texto.
Para começar, devo dizer que é indis cutível que o relato bíblico está cheio de exemplos em que a ética faz parte dos de sígnios Divinos, desde a criação do mun do, passando pelos patriarcas, Moisés e os profetas de Israel.

Alguns poucos (bem poucos) exem plos: o cuidado com os mais vulneráveis numa sociedade na qual é preciso permi tir que os mais vulneráveis colham livre mente nas bordas dos campos e o concei to do shabat avedá, isto é, a obrigação de que se alguém achou um animal perdido no caminho tem que cuidar dele e fa zer o impossível para achar o seu dono. Mas, repito, estes são apenas poucos exemplos de um imenso arcabouço de uma rede de cuidados aos próximos e de comportamento ético prescrito na Torá.
Para muitos estudiosos, a submissão de Abrão na akedá é o paradigma que domina a vida e o pensamento religiosos. Para eles, a sobrevivência e a continuidade da tradição requerem entrega incondicional, sacrificando o intelecto e a intuição ética.
Existe um impulso natural de querer demonstrar como o judaísmo e o Deus de Israel são éticos. Por exemplo, no Tal mud da Babilônia vemos: [o que significa] Andar pelos caminhos de Deus? Assim como Deus veste aos despidos, vocês devem vestir aos despidos, assim como Deus visita os do entes, vocês também devem visitar os doen tes, assim como Deus conforta os enlutados, vocês devem fazer o mesmo (Sotá 14 a). Por outro lado, existem ideias de pessoas destacadas, como o professor Yeshaiau Leibowitz, radicalmente no contraponto: Há os que louvam o slogan da moralidade da profecia judaica. Contudo, o Judaísmo é revelado através da re ligião e isto inibe a existência da “moralidade judaica”. A fé religiosa revelada na Torá e nos mandamentos não é uma ca tegorização moral; não requer consciência humanitária. Não por coincidência, nenhum dos 48 profetas e sete profetizas de
16 | devarim | Revista da Associação Religiosa Israelita- ARI
WinRu / iStockphoto.com
Israel jamais apelaram para a consciência do ser humano.
Leibowitz pensa que a moral como valor supremo é uma categoria do mun do secular. Em suas próprias palavras: “Kant foi um grande moralista, porque para ele o homem é Deus”, e esse não é caminho para o homem religioso.
Mas vamos começar desde o início, Bereshit, desde o gênesis da história dos seres humanos dialogando com Deus, o Soberano do Universo, que procura um homem para que seja seu sócio. Não funciona com Adão, tampouco com Caim, não funciona com Noé, até que chegamos a Abrão.
Não é justificativa dizer ‘Deus me ordenou a fazer isto ou aquilo’. É sempre decisão de cada um estabelecer limites éticos diante das demandas que Deus ou a religião nos faz.
mático do que o primeiro, quando, de pois de lhe ter prometido descendência, Deus, sem explicação nenhuma, lhe exi ge que sacrifique seu filho no Monte Mo riá, no episódio conhecido como “akedá de Isaac”. Dessa vez Abrão permanece no mais absoluto silêncio, acorda cedo e leva Isaac ao sacrifício. Acaso essa ordem não viola as intuições morais de Abrão? O senso de ética do patriarca admite matar seu próprio filho?
Com ele Deus consegue dialogar e o que sucede são duas histórias emblemáticas que nos proporcionam ima gens completamente dissímiles de Deus. Dois modelos antagônicos de consciência religiosa.
O primeiro relato é a decisão de Abrão, diante do de creto Divino de destruir a cidade de Sodoma. Abrão não corre para a biblioteca à procura de um livro que justifi que ou desabone a decisão divina. Ele reage prontamente, numa reação automática: “Destruirás também o justo jun to com o mau?! Talvez haja 50 justos dentro da cidade. Tam bém destruirás e não perdoarás ao lugar pelos 50 justos que há dentro dela?” (Bereshit 18:23-24)
Abrão parece se sentir “obrigado” a discutir com Deus, algo não só infrequente como também prematuro. Ainda não tinham um vínculo de tanta confiança que justificasse tamanha ousadia. Parece que Abrão não escolhe discu tir com Deus. Parece que ele não consegue evitar a explo são emocional por não tolerar a injustiça.
Há um impulso natural sobre o que é decente e justo. Devemos permitir que este impulso aflore em nosso siste ma religioso em vez de desprezá-lo.
Abrão, nesse relato, se apresenta como um ser ético e profundamente religioso. E o Deus que ele venera não pode deixar de agir dessa forma. “Deus não pode ser imo ral!”, parece estar nos dizendo o patriarca. Portanto, ele se sente no direito de responder com uma grandíssima auto nomia moral, gritando com todas as suas forças: “O juiz de toda a terra não haverá de fazer justiça?” (Bereshit/Gênesis 18:25) Isto é de uma convicção que só quem se sabe moralmente certo pode sentir.
O segundo relato é tão conhecido e ainda mais proble
Para muitos estudiosos, a submissão de Abrão na ake dá é o paradigma que domina a vida e o pensamento reli giosos. Para eles, a sobrevivência e a continuidade da tra dição requerem entrega incondicional, sacrificando o in telecto e a intuição ética.
Se no exemplo de Sodoma interpretamos que o judaís mo se edifica com um metavalor ético-moral, que autori za a questionar ao próprio Deus, a akedá parece querer di zer que a religião judaica deve ser fundada na obediência, sem importar se o mandamento contraria a moral. Que a ética, a justiça e o livre arbítrio dos homens, tudo está su bordinado a Deus.
O dilema de Abrão, no momento em que sua intuição moral interior conflita com a tradição, é se o caminho prescrito a partir de uma perspectiva religiosa seria ques tionar a intuição e acatar a tradição ou se seria o oposto. E esse questionamento semeia a dúvida: Pode a religião nos desafiar a abandonar nossas convicções morais básicas?
O rabino David Hartman diz em seu livro A God who hates lies que “o pacto estabelecido entre Deus e o povo judeu não foi apenas um acordo de obediência incondicional; foi igualmente um acordo de transferência de poder e uma afir mação na capacidade humana”.
Quer dizer, não é justificativa dizer ‘Deus me ordenou a fazer isto ou aquilo’. É sempre decisão de cada um esta belecer limites éticos diante das demandas que Deus ou a religião nos faz.
Por isso existe a halachá no judaísmo. Porque é uma tradição interpretativa que, independentemente do que está escrito no livro sagrado, se permite criar comentários que autorizem a possibilidade de contornar e mudar a lei existente, bem como criar leis novas.
Não devemos nos confundir e, quando ouvirmos o ter mo halachá, pensar num código fechado que não admi
Revista da Associação Religiosa Israelita- ARI | devarim | 17
te nos distanciar nem um metro à direita ou à esquerda da norma.
Reduzir a halachá a aspectos mecâni cos, ignorando sua função enquanto re lação entre as pessoas a despoja de suas bases éticas. Esse comportamento desco nhece que a função principal da halachá é ser um instrumento para efetuar mudan ças e não um fim em si mesma. Sem isso, cria-se um abismo entre o judaísmo e sua halachá, seu processo vital de existência.
O mesmo problema teve Maimôni des quando criou o monumental Mish nê Torá. Ele aspirava facilitar aos que qui sessem conhecer a halachá do Talmud, fazendo com que não precisassem se em brenhar em suas discussões, nem perder tempo com suas hagadot. Mas fracassou porque passou por cima de uma importante realidade; quando separamos a lei da hagadá, seu fundamento éti co e ideológico, o resultado é um conceito errôneo e uma compreensão distorcida da natureza e da realidade.
Reduzir a halachá a aspectos mecânicos, ignorando sua função enquanto relação entre as pessoas a despoja de suas bases éticas. Esse comportamento desconhece que a função principal da halachá é ser um instrumento para efetuar mudanças e não um fim em si mesma.
ser milenar. Não se abraça uma tradição por causa de sua antiguidade, mas por que contém ideias valiosas às quais se an seia subscrever.
Se existe um abismo entre a halachá e boa parte do povo judeu, esse vazio não será preenchido por uma halachá que não os represente, que não seja a mais eleva da manifestação do espírito humano. Por isso, o sistema de normas da halachá de veria ser reformulado desde seus princí pios mais básicos.
Como diz o rabino Gordis: Separar a halachá do subs trato dialético do Talmud e dos códigos ocasiona uma apre ciação inadequada do caráter haláchico e sua incidência no processo de princípio unificador na vida do povo1 .
Uma conclusão preliminar poderia ser a seguinte: Considerações éticas devem ser aplicadas ao procedimen to haláchico, pois a halachá não pode ser imoral, embo ra a halachá e a ética não sejam a mesma coisa, pois per tencem a duas classes diferentes de expressão. A halachá representa um complexo específico de leis e costumes; a ética se refere a uma disciplina filosófica preocupada com uma conduta moral que pretende ser universal.
Em sentido estrito, os termos não são comparáveis. Portanto, se não são iguais e se concordamos que a men sagem judaica não pode ser imoral, será que os rabinos aplicaram na sua atividade legislativa um critério ético ex terno à halachá? Será a halachá independente? Deveria ser independente de juízos morais estabelecidos sobre bases não haláchicas?
Eu obviamente considero que sim. Que há valores ju daicos surgidos de outras fontes, outras culturas e tradi ções, que são incorporados ao corpo de normas haláchi cas. O judeu moderno não vai aderir ao judaísmo por
Sabem isso, que habitualmente se es cuta dizer, que a observância da lei é fun damental para que o judaísmo seja preser vado? Aí é que está: o judaísmo não deve ser preservado! Deve se mover, progredir. Utilizar toda a sua potencialidade de desenvolvimento e aplicar isso no sistema da halachá, que não é outra coisa senão a interação de Deus e os homens no tempo. Mais do que o conteúdo literal da revelação de Deus no Sinai, deve-se aceitar o papel ativo do homem no desenvolvimento criativo da lei.
Diz Gordis: Isso significa a aceitação da possibilidade de existir erros nessa tradição legal, e a necessidade de progres so em níveis mais altos de sensibilidade ética (...), pois nada menos do que as normas éticas mais elevadas podem ser ad mitidas como o resultado da interação do ser humano com o Divino (...). Os defeitos humanos não devem ser nem canonizados nem tampouco pode-se atribuir a eles a pretensão de imutabilidade 2
Devemos nos valer de todos os recursos que estão em nossas mãos. Da nossa sensibilidade, de nossos conheci mentos e de nossa inteligência para que a tradição conti nue sendo um instrumento que realce a qualidade da exis tência humana.
A halachá é humana. Criada, pensada, sentida e discutida pelos homens. Desde o Talmud até o Shulchan Aru ch, durante mil anos, os rabinos edificaram um sistema de leis para viver nelas.
Os judeus não vivem a moral que Deus manda e sim a que escolhem. Isso lhes dá caráter de sagrado. As tentativas de identificar a halachá com o Sinai são meramente folcló ricas. Mas, como na história de Abrão, existem relatos que tendem a destacar a independência criativa dos rabinos, e
18 | devarim | Revista da Associação Religiosa Israelita- ARI
outros que subordinam toda lei (seja da Torá, seja do Talmud ou posterior) à Revelação a Moisés no Sinai. Vejam que interessantes as ideias encontradas nestes midrashim: Bendito seja o Nome do Rei. Rei dos Reis que elegeu a Is rael dentre setenta nações como está escrito: “Mas, a parte de Deus foi Seu próprio povo, Jacó foi sua porção designada e Ele nos deu a Torá escrita contendo indícios sobre assuntos enco bertos e ocultos, e os explica na lei oral que revelou a Israel ”. (Midrash Tanhuma, Noach, 3)
“
Estes são os estatutos, os juízos e as leis que estabeleceu Deus entre Ele e os filhos de Israel.” (Levítico 26:46) “Os es tatutos – são as interpretações. Os juízos – estas são as leis; e os ensinamentos (Torot) – esses ensinam que a Israel se deram as Torot, uma escrita e a outra oral.” (Sifra, Bechukotai, 8)
O Talmud Yerushalmi vai além e interpreta que absolutamente qualquer ensinamento de Torá e interpretação de qualquer lei em qualquer momento histórico, tudo já foi revelado no Monte Sinai. O versículo em questão é Deuteronômio 9:10: “E Deus me deu as tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus e sobre elas estavam escritas to das as palavras que Deus falou no monte no meio do fogo, no dia da Assembleia” . O rabino Joshua ben Levi disse: “To
das as palavras”. Umas palavras são a Torá, e as outras palavras são a Mishná, Talmud e Agadá. Até mesmo o que o es tudioso avançado está destinado a ensinar na presença de seu professor foi dito a Moshé já no Sinai. (Peah 2,4)

Mas nem todos os rabinos se contentavam em descre ver sua função como meros copiadores de textos e repro dutores de uma revelação já consumada no passado. Eles não estavam para repetir, mas para criar, e entendiam sua função como uma ação recíproca: por um lado recebiam e transmitiam uma tradição, e por outro lado as autori dades rabínicas eram perfeitamente cientes de ter um pa pel criador, que assumiam com muita sensibilidade e ge nial criatividade.
“E Ele deu a Moshé” (Exôdo 31:8) (o anônimo au tor midráshico pergunta retoricamente): Estudou Moshé realmente toda a Torá? Está escrito: “Sua dimensão é mais am pla que o mar” (Jó 11:9), e Moshé estudou (tudo) em qua renta dias? O Santo, Bendito Seja, ensinou a Moshé princí pios gerais. (Êxodo Raba 41,6)
Esse outro midrash, em oposição aos anteriores, tenta harmonizar entre o lugar destacado que a tradição guarda a Moisés e, ao mesmo tempo, assume a responsabilidade
3bugsmom / iStockphoto.com
sobre que seriam eles, os rabinos, os responsáveis por legislar, interpretar e criar as halachot que iriam conduzir a vida de milhões de judeus ao longo dos séculos.

O certo é que não apenas o Midrash tem opiniões antagônicas do que aconte ceu no Sinai, mas a própria Torá também não deixa isto claro. Leiam com atenção a parashá Yitro no livro de Êxodo. No mo mento sublime da entrega dos dez man damentos, Moisés não recebe duas tábu as. Ele desce do monte e fala os manda mentos que escutou de Deus, mas sem as tábuas. Já no capítulo 24 versículo 4 do mesmo livro po demos ver que Deus não as escreveu, mas que foi Moisés: “E escreveu Moisés todas as palavras do Eterno”. Algumas linhas depois (versículo 12) Deus ordena: “Sobe a Mim, ao monte, e fica ali; e dar-te-ei as tábuas de pedra, a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinar”. Mas como? Não era que Moisés já havia escrito e agora Deus diz que ele vai escrever e entregar? De qualquer forma, Deus ain da não entrega nada e só no capítulo 31 versículo 18 deu a Moisés “duas tábuas de testemunho, tábuas de pedra es critas com o dedo de Deus”.
Sabem isso, que habitualmente se escuta dizer, que a observância da lei é fundamental para que o judaísmo seja preservado?
Aí é que está: o judaísmo não deve ser preservado! Deve se mover, progredir.
cisivos no passado para que determinem o presente e o futuro, isso não será viável. Venerar a tradição tem que ser o pon to de partida e nunca o final do proces so. O processo haláchico corretamente entendido pressupõe uma tensão criati va entre a tradição que foi recebida (Sinai) e os critérios próprios da comunida de haláchica, que, além de se nutrir da tradição e do religioso, deve considerar também os aspectos éticos, psicológicos, sociológicos, políticos e econômicos do seu contexto particular, para que todas es sas palavras, as da Torá e o Talmud, as da ética e a moral, a literatura profética e rabínica, os costumes de cada lu gar, bem como os novos ensinamentos da modernidade e tudo o que for relevante para o ser humano, que todas es sas palavras se constituam em ferramentas de transmissão e transformação, e fundamentalmente em valores vivos e presentes, com a possibilidade concreta de fazer diferença real na vida das pessoas.
Notas
1. Gordis, David. Halachá as Process: The Jewish Path to the Good Life, University of Judaism, 1983.
Com todos esses exemplos eu pretendo evidenciar a tensão que existe numa tradição que por um lado quer ve nerar o passado e, por outro, quer continuar andando. É preciso entender que toda a legitimidade emana de Deus e também que a lei dos homens é obra dos homens. Querer manter vivo o Sinai e ao mesmo tempo compreender que se vamos depender dos critérios éticos que foram de
2. Idem.
O rabino Dario Ezequiel Bialer serve na Associação Religiosa Is raelita do Rio de Janeiro – ARI. Cursou os estudos rabínicos no Se minário Rabínico Latinoamericano Marshal T. Mayer, em Buenos Ai res, Argentina, e no Schechter Institute for Jewish Studies, em Je rusalém, Israel.
Madzia71 / iStockphoto.com
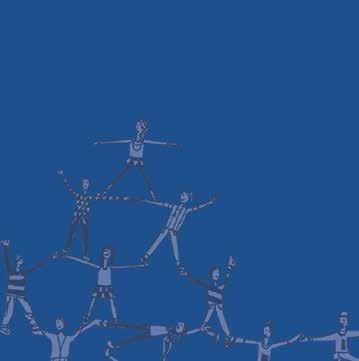




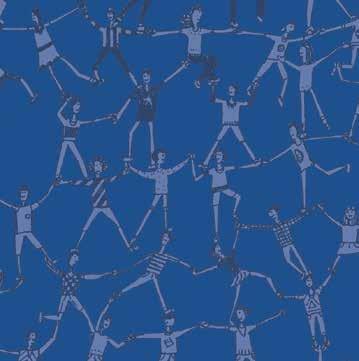
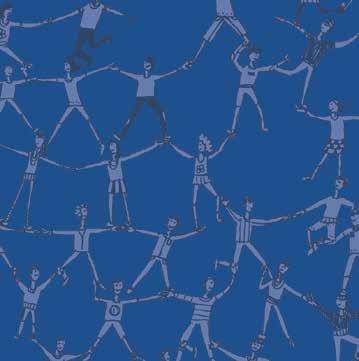
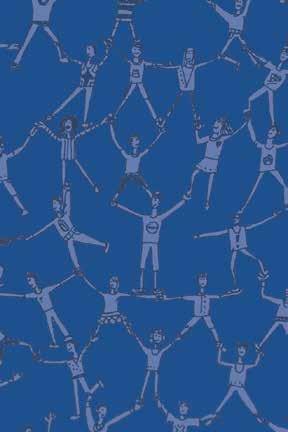





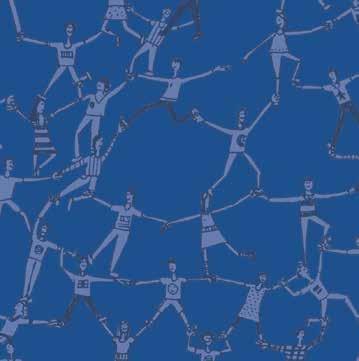
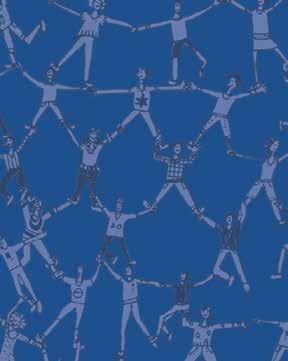


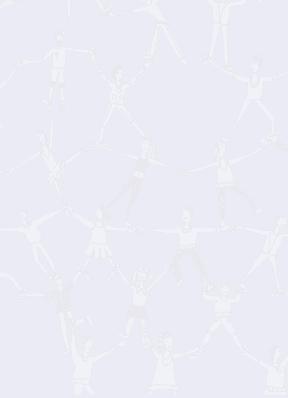





Revista da Associação Religiosa Israelita- | | 21 www.arymax.org.br Promovendo cidadania por meio da educação e formação de líderes.

m inhas memórias de b en-Gurion, o “ b .G.”
Tive algumas ocasiões de me sentar à mesa do refeitório do kibutz (um elementar barracão de madeira despido de mínimo luxo) próximo a Ben Gurion e sua esposa, Pola. Meu acanhamento de jovem “olé” foi o obstáculo no desejo de iniciar conversa com a legendária figura.
Cheguei a Israel no início de 1956, alguns meses antes do oitavo aniver sário da Independência do Estado.
As condições eram das mais precárias: ainda estava em vigor o re gime de “Tzena”, o rigoroso racionamento de víveres e mercadorias a que estava sujeita a população, que havia triplicado naqueles poucos anos. O nascente Estado, se não bastassem os prementes problemas da mais ime diata segurança a que fazia frente o ainda embrionário Exército de Defesa, viu-se às voltas com dificílimos problemas de habitação que se traduziram na implantação de numerosas “maabarot”, os improvisados campos de absorção da “Aliá” 1 de massas: frustrantes aglomerados de tendas e cabanas desprovi dos de recursos sanitários e incapazes de proteger devidamente das intempé ries. Os transportes públicos, estruturados com uma reduzida frota de veícu los de elementar construção para atender aos 600 mil habitantes judeus do “Ishuv”2 pré-Estado, desmoronaram sob o peso da grande imigração, e ain da permanece viva em mim a imagem de verdadeira batalha que constituía o conseguir embarcar num ônibus.
David Ben Gurion, com o retrato de Theodor Herz ao fundo, em fotografia de 1948.
Igualmente, a economia do país não tinha instrumentos suficientes para prover as necessidades, não tendo tido nem o tempo nem os meios de cons truir uma infraestrutura apropriada. Grande parte da nova população teve que recorrer a empregos governamentais organizados de urgência para uma força de trabalho sem preparo profissional.
Vittorio corinaldi
Revista da Associação Religiosa Israelita- ARI | devarim | 23
Todo o quadro era então desesperadamente cinzento. Era preciso ter uma con siderável dose de esperança e otimismo para encarar o futuro, e uma imaginação que beirava a ingenuidade para visualizar a nação forte e variada que veio a se cons tituir nas décadas seguintes.
Pode-se creditar o cultivo desse oti mismo a diversos fatores: à ilimitada de dicação da jovem geração do “Ishuv”, a cujo espírito de lacônica fé, disciplina e sacrifício se devem à inverossímil vitória sobre forças inimigas muito superiores; à paradoxal sensação de realização inspira da na secular crença religiosa dos “olim”3 dos países árabes e do Oriente, cujo fervor pela chegada à terra dos antepassados os encorajava a suportar os dissabores de sua difícil absorção; à arraigada tradição do movimento sionista, que se põe como um sólido alicerce assentado no solo de uma cultura milenar; à traumática e muito recente experiência da Shoá.
Também, depois do ocaso (circunstancial ou definitivo?) do movimento trabalhista israelense, e com a consolidação da direita na política local, não faltam tentativas de ofuscar a absoluta superioridade de visão política, mas ao mesmo tempo cultural e ética, de Ben Gurion.
que se estende às condições históricas que levaram à criação do Estado, e também a outros personagens que completavam a admirável equipe daquela liderança. E paira a ameaça de legar ao esquecimento e ao desprezo a página gloriosa desse pas sado ainda tão próximo e tão vivo.
Também, depois do ocaso (circuns tancial ou definitivo?) do movimento trabalhista israelense, e com a consolida ção da direita na política local, não faltam tentativas de ofuscar a absoluta superio ridade de visão política, mas ao mesmo tempo cultural e ética, de Ben Gurion.
Mas, acima de tudo coloca-se no centro deste inigualá vel momento histórico a figura dominante de David Ben Gurion.
Não sou historiador e seria presunçoso de minha parte abordar essa figura pelo lado da pesquisa acadêmica ou da descrição literária. Também não teria motivo de concor rer (mesmo se tivesse as qualidades para tanto) com auto res mais acreditados para esta tarefa. Nunca cheguei a ter um contato pessoal com Ben Gurion. Mas ter vivido “ao lado” dele, ter presenciado de perto sua gigantesca capaci dade de liderança, ter respirado a atmosfera de coragem, confiança, perseverança que emanavam de sua pessoa – é um privilégio de que poucos podem se gabar. E eu gosta ria de saber transmitir essa sensação a outros que não fo ram testemunhas da epopeia que ele conduziu, e que talvez por isso não saibam avaliar seu âmbito e sua profundida de, consequentemente furtando-se à identificação integral com a causa sionista de que ele foi o incontestado líder.
Hoje, há 404 anos de seu falecimento, e na era da sub cultura dos programas “reality” da TV, ou do culto pagão aos poderes milagrosos de corruptos “rabanim”5 e de suas interpretações “eruditas” de anacrônicas e irrelevantes nor mas rituais, presenciamos também as manifestações de to tal ignorância sobre a pessoa de Ben Gurion: ignorância
Não há dúvida que Menachem Begin conseguiu atingir uma posição de seme lhante prestígio e importância, demons trando nos momentos cruciais saber se elevar acima das correntes politiqueiras e populistas de sua facção partidá ria. Mas há que reconhecer que daquela facção partiram numerosos esforços de falsificação histórica contestando a comprovada hegemonia da corrente de centro-esquer da encabeçada por Ben Gurion no estabelecimento do Es tado, para pôr a atividade clandestina do “Etzel” (iniciais de “Irgun Tzvaí Leumí” – Organização Militar Nacional –de formação ideológica revisionista comandada por Begin, que atuou no final do Mandato Britânico) numa luz de he roísmo e ousadia, desproporcional seja à composição nu mérica da organização, seja aos resultados práticos de sua ação no contexto da independência de Israel.
Neste contexto surge à lembrança o sabido episódio do navio “Altalena”. Já depois da proclamação do Estado, no período da primeira trégua dos combates, o “Irgun” fez chegar naquele navio um carregamento de armas especifi camente destinadas ao grupo dissidente, em flagrante des respeito da disciplina que Ben Gurion queria introduzir no quadro do novo exército, à qual deveriam se submeter todas as formações militares que atuavam até o momento da Independência.
Os armamentos eram urgentemente necessários na de sigual luta que vinha se travando contra os exércitos ára bes invasores. Mas era inaceitável para Ben Gurion e para sua concepção de suprema preponderância do fator interesse nacional que uma milícia alheia ao comando do exército agisse com decisões próprias. Ordenou, portanto,
24 | devarim | Revista da Associação Religiosa Israelita- ARI
que o navio, ostensivamente ancorado ao largo da praia de Tel Aviv, fosse bombardeado, perdendo-se assim a preciosa carga, mas salvando o jovem país do perigo de formação de grupos políticos armados – fenômeno que se tornou co mum nos instáveis regimes dos países vizinhos.
Depois da reviravolta política que elevou o “Likud”6 (continuador do “Herut” e do “Etzel”) ao poder, tenta-se subverter os fatos daquele episódio, e rodear os participantes de uma imagem de altos méritos na história nacional. Ter chegado no “Altalena” e lutado nas fileiras do “Irgun” é tido hoje como um atestado de supremo valor.
Fato é, porém, que o “Irgun”, após o sensacional epi sódio, cessou sua atividade autônoma e se juntou ao exér cito nacional. E hoje não há formação mais ferrenhamen te defensora do “Tzahal”7 do que o Likud…
Sintomática da opinião de Ben Gurion sobre esta vi tal questão é a atitude que ele adotou com relação à “Pal mach”, a elitista tropa de choque da “Haganá”8, o legíti mo precursor do exército de defesa junto ao “Ishuv”. Contrariamente ao “Irgun”, esta era a força militar dependen te da direção política eleita e sempre atuou em conformi dade com a linha ditada por esta. Sendo constituída pela quase totalidade da juventude de então, gozava de unâni me prestígio e de um “folclore” largamente apreciado den tro da nascente cultura israelense.
Apesar desta geral simpatia, Ben Gurion dissolveu tam bém esta formação, coerente com sua indobrável decisão


de não permitir a presença de manifestações estranhas den tro da estrutura militar: ato de coragem, que até hoje ga rante a estabilidade democrática e parlamentar do país.
A visão histórica de Ben Gurion ganha uma dimensão particular na insistência com que – contra a oposição de alguns dos partidos que compunham a direção do “Ishuv” – sustentou a necessidade de declarar a fundação do Es tado no momento da cessação do Mandato inglês. E sua pragmática aceitação da Partilha da Palestina (em contras te com a retórica declarativa da “Grande Israel em ambas as margens do Jordão”, enunciada pela ala revisionista) demonstra igualmente sua interpretação equilibrada da reali dade e sua convicção da necessidade inadiável de uma de cisão concreta e realista, não desperdiçando a conjuntura única que se apresentava.
No decorrer dos anos de minha atividade profissional como arquiteto do movimento kibutziano, vim a desen volver uma ligação muito íntima e amistosa com o Kibutz Sdé Boker no deserto do Neguev.
Acompanhei este Kibutz em seu desenvolvimento físi co desde os seus primórdios. E foi neste começo que pude lá observar Ben Gurion. Ele havia se associado ao kibutz (então situado em desolador isolamento em região com pletamente árida e inóspita) num momento em que cir cunstâncias políticas o impeliram a abandonar o cargo de primeiro ministro.
Com gesto eminentemente demonstrativo de sua vi
Ben Gurion lê a declaração de Independência de Israel em 14 de maio de 1948 (à esq.) e em reunião durante a guerra de Independência (à. dir.).
Revista da Associação Religiosa Israelita- ARI | devarim | 25
são do Neguev como a reserva territorial mais importante do país, para a qual se deveria orientar a juventude e o máximo esforço de desenvolvimento agrícola e in dustrial, ele foi morar no kibutz nas mo destíssimas condições que ele oferecia en tão, trabalhando como pastor de ovelhas.
Nessa época, o afastamento das fun ções de governo não o impedia, porém, de atrair ao longínquo kibutz visitan tes do país e do exterior, que, no dese jo de ouvir sua opinião ou seu conse lho, tinham que se conformar ao excên trico ambiente e à total falta de etique ta protocolar.
Exemplo típico foi uma visita do Se cretário-Geral da ONU, Dag Hammer skjold. O colóquio deste com Ben Gurion se deu durante a cotidiana caminhada em passo vigoroso, que era parte dos hábitos do “velho”. E o diplomata sue co teve que coordenar seu próprio passo com o enérgico andar do singular personagem de baixa estatura, seguidos ambos ao longo dos empoeirados caminhos da redondeza do Kibutz por alguns seguranças ofegantes.
Ao assinalar os 40 anos de seu falecimento, vêm à tona as comparações inevitáveis com a presente cena política de Israel. A falta de uma liderança corajosa da estatura de Ben Gurion ecoa tragicamente na linha que o país vem mantendo desde algumas décadas, numa insustentável ocupação de território palestino.
res personalidades da história judaica de todos os tempos.
Não se pode ignorar a intransigência que exibia para com adversários políti cos (ficou gravada a exclamação: “Sem o Herut e sem o Maki” com a qual repe tidamente excluía o Partido Revisionista e o Comunista de qualquer hipótese de coalisão na Knesset9), nem o rude ostra cismo em que procurava isolar objetores de sua liderança (é sabida a divergência de visão entre ele e Moshe Sharet, o cul tivado formador do Serviço Diplomáti co Externo, e substituto de Ben Gurion na chefia do governo durante o parêntese de Sdé Boker).
Tive algumas ocasiões de me sentar à mesa do refeitó rio do kibutz (um elementar barracão de madeira despido de mínimo luxo) próximo a Ben Gurion e sua esposa, Pola.
Meu acanhamento de jovem “olé” ainda pouco fami liarizado com os grosseiros costumes dos “sabras” me foi o obstáculo no desejo de iniciar conversa com a legendá ria figura. E fico desde então com a sensação de perda de uma experiência única, e com a admiração e o respeito pela extrema modéstia e absoluta honestidade nos hábi tos pessoais de tão grande líder.
Sua impressionante fisionomia, sua autoridade apoiada no exemplo pessoal e no não compromisso em questões de destino do país e do povo, sua fé na renovação do judaís mo contida na realização sionista, e que se exprimia, por exemplo, na insistência do uso do hebraico e contrarieda de ao recurso a línguas e dialetos forjados em longos anos de Diáspora, sua obsessiva exigência de “hebraizar” os no mes próprios trazidos do Galut, seu encorajamento ao es tudo do Tanach à luz do novo enfoque que a acessibilidade geográfica e a “familiaridade” dos personagens agora pos sibilitavam – tudo isto o coloca em paralelo com as maio
Sua forte vontade de dar preponde rância aos interesses nacionais sobre as considerações que ele definia como partidárias e eleitorei ras o impeliram a posições às vezes extremas e obstinadas, como foi a chamada “Parashá” – o caso de uma fracassada ação da inteligência israelense no Egito, levada a cabo sem suas instruções. Este caso o pôs em aberta divergência com a maioria da direção do Mapai10, culminando com seu pa tético abandono das fileiras do partido que era a sede de todo o seu fazer público. Seria lícito usar da comparação com Moisés arremessando ao chão as Tábuas da Lei recebi das no Monte Sinai? Pois me parece não ser absurdo olhar para Ben Gurion com a mesma aura de grande condutor, dotado das imensas qualidades, mas também dos defeitos e caprichos que acentuam sua humanidade ao lado da mag nitude de sua figura perante o povo.
Ao assinalar os 40 anos de seu falecimento, vêm à tona as comparações inevitáveis com a presente cena política de Israel. A falta de uma liderança corajosa da estatura de Ben Gurion ecoa tragicamente na incongruente linha que o país vem mantendo desde algumas décadas, numa in sustentável ocupação de território palestino e numa con denável tolerância por manifestações fanáticas e revoltan tes do setor messiânico ortodoxo, orientado e fomentado pela irresponsável incitação de pseudorrabinos extremis tas. Estes incutem com claro teor de preconceito uma su posta vontade divina da presença judaica em meio a po pulações árabes a que se nega o pleno direito de sua iden tidade e propriedade.
26 | devarim | Revista da Associação Religiosa Israelita- ARI
Ben Gurion está sepultado em lugar adjacente ao Ki butz Sdé Boker. Seu túmulo, caracterizado pela mesma modéstia e austeridade que eram próprias do homem, situa-se, porém, em dramática e majestosa posição, domi nando um largo panorama do Neguev, que ele enxergava como a grande promessa no futuro de Israel.
O ato derradeiro que o imortaliza conserva a mes ma coerência que foi a linha mestra de toda sua vida de completa dedicação. O sóbrio bom gosto da implanta ção de seu túmulo dá uma lição de honestidade de que tanto necessitam a nação e o povo judeus, na angustia da expectativa pelo líder que os reconduza à sua vocação de paz e de fé.
40 anos errou o povo pelo deserto, até se tornar capaz da autonomia que Moisés lhe ensinou. 40 anos vem Israel errando pelo deserto político que ele próprio criou, priva do do ensinamento de um novo Ben Gurion.
É chegada a hora em que um sopro de bom senso se faça sentir, e Israel readquira sua autêntica imagem: não de “potência” bélica ou tecnológica de que hoje tanto nos ufanamos, mas de “luz para os povos”, numa releitura do desafio moral e humano que Ben Gurion nos transmitiu.
Notas
1. Nota do Editor: literalmente, “subida” significa a imigração de judeus ao Estado de Israel.
2. N.E.: literalmente, “assentamento” significa a sociedade israelense no território do Mandato Britânico.
3. N.E.: pessoas que fazem “Aliá”, que imigram para o Estado de Israel. Singular: “olé”.
4. N.E.: Ben Gurion faleceu em 01 de dezembro de 1973 – este texto foi escrito no fim de novembro de 2013.

5. N.E.: significa “rabinos” em hebraico.
6. N.E.: “Likud” é um dos atuais partidos políticos de Israel, que sucedeu ao partido denominado “Herut”.
7. N.E.: acrônimo de “Tzavá Haganat LeIsrael” – “Exército de Defesa de Israel”.
8. N.E.: literalmente, “defesa”, nome da organização paramilitar pré-estado do Ishuv.
9. N.E.: o parlamento do Estado de Israel.
10. N.E.: partido político ao qual pertenceu Ben Gurion – acrônimo de “Mifleguet Poalei Eretz Israel” – Partido dos Trabalhadores da Terra de Israel.
Vittorio Corinaldi, arquiteto formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU USP), vive em Is rael desde 1956. Durante 40 anos foi membro do Kibutz Bror Chail. Atualmente vive em Tel Aviv. Atuou como arquiteto no quadro do es critório central de planejamento da organização dos Kibutzim, tendo sido seu arquiteto chefe por dez anos. Executou numerosos proje tos em dezenas de kibutzim, e trabalhou também em questões de planejamento rural, mais especificamente aquelas ligadas ao movi mento kibutziano.
Leitura da Proclamação da Independência de Israel em encontro realizado no Museu de Tel Aviv, em 14 de maio de 1948.
Revista da Associação Religiosa Israelita- ARI | devarim | 27
a rik e instein: transformando o ato de cantar em poesia
A cultura israelense, nos anos que antecederam a Independência, assim como nos primeiros anos após, enfatizava muito o coletivo. A dança era a hora em que todos dançavam juntos numa grande roda. Não havia espaço para o individual.
rafael stern
Arieh (Arik) Einstein nasceu em Tel Aviv em 1939. Filho de pais artistas, foi membro do movimento juvenil haShomer haTzair, atleta (campeão juvenil de salto em altura) e se consagrou em Israel por sua linda voz e músicas que marcaram gerações. Crescendo junto com o país, teve participação fundamental para criar uma identidade cultural israelense.
Começou sua carreira musical nos corais das lehakot tzvaiot, as bandas do exército que entretiam as tropas. Aos poucos foi ganhando músicas solo, e sua linda voz atraiu artistas que queriam ouvir suas poesias e canções interpreta das por ele. Homem humilde, que “gosta de ficar em casa”, abandonou os pal cos porque tinha vergonha de se apresentar, achava que não era feito para isso. Além de escrever muitas letras, também atuou em filmes de comédia e clássi cos infantis. Um artista e um poeta completo.
Sempre admirei o mundo da poesia. Como fiz muitos anos de teatro, tive contato com muitos textos, muitos poetas, e o Arik foi a minha porta de entrada para o mundo da poesia em hebraico. A poesia é distinta de outras formas de arte. Ao invés de utilizar cores, formas, sons, movimentos, texturas, ou ou tros elementos, ela utiliza única e exclusivamente as palavras.
A poesia pode ser sobre o tema mais triste do mundo, mas pela simples es colha das palavras, as rimas, a combinação, isso se torna bonito. O triste pode
28 | devarim | Revista da Associação Religiosa Israelita- ARI
se tornar belo, e a poesia se utiliza de uma mágica para tornar isso possível. E prova que, diferentemente da mate mática, a ordem dos fatores pode sim alterar o produto. E o que já é belo por si só, a poesia o torna eterno e etéreo.
Um dia, descobri que o Arik não escreveu a letra de muitas das músicas que cantou. Isso me deixou um pouco decepcionado, me fez achar que perdeu um pouco a gra ça. Mas quanto mais eu descobria os diferentes autores das músicas que ele cantava, mais fui abrindo a minha cabe ça para um fato muito simbólico. Grandes poetas da lín gua hebraica tiveram suas palavras entoadas pela voz macia e aveludada de Arik Einstein: Avraham Halfi, Bialik, Lea Goldberg, Rachel, Naomi Shemer, Natan Yonatan, Meir Ariel, Shalom Chanoch, Yonatan Gefen, e muitos outros. Eu não sei quantos deles escolheram pessoalmente, ou ti veram suas homenagens póstumas na voz do Arik, mas sei que quando tantos poetas geniais, muitos deles tam bém músicos, escolhem ou têm escolhidas as suas poesias para serem cantadas pelo mesmo intérprete, algo de espe cial ele deve ter.
Além da voz linda, percebe-se que Arik coloca sua alma na música. No vídeo da música Tzaar Lach, que ele canta com a jovem Yehudit Ravitz, tendo entre eles o piano de cauda de Yoni Rechter, o olhar dele, quando canta “assim indicam os olhos”, já me diz tudo. A interpretação da poe
sia Atur Mitzchech Zahav Shachor (Sua Testa Está Adorna da com Ouro Preto), de Avraham Halfi e melodia de Yoni Rechter, com o Arik, a Yehudit Ravitz e a Korin Alal parece uma música do paraíso que sem querer caiu na terra, e fica mos com ela. Arik abriu a minha cabeça para o fato de que poesia não é só um arranjo de palavras. Poesia pode ser um ato. Arik Einstein transformou o ato de cantar em poesia.


A cultura israelense, nos anos que antecederam a Inde pendência, assim como nos primeiros anos após, enfatizava muito o coletivo. A dança era a hora em que todos dan çavam juntos numa grande roda. As músicas eram todas conjugadas no plural e enfatizavam como o povo, em conjunto, estava comprometido com o processo de criação do país, da transformação da terra, da criação de cidades. Não havia espaço para o individual, era um projeto conjunto, e a própria estrutura organizacional dos kibutzim (coletivis ta) e moshavim (cooperativista) evidenciava isso.
Quando Arik escreveu e cantou com Miki Gavrielov a música Ani ve Ata (Eu e você vamos mudar o mundo; Eu e você, e então virão todos...) houve uma profunda que bra de paradigma. Agora já não era mais o mito fundador, aquela figura lendária que estava falando. O coletivo ga nhou identidade. O coletivo é formado por “eu” e “você”. E quando se ganha identidade, quando se tem a noção de que existem indivíduos particulares dentro do coletivo,
Revista da Associação Religiosa Israelita- ARI | devarim | 29
e que cada um traz um universo inteiro dentro de si, pode-se “mudar o mundo” e incorporar ainda mais indivíduos nesse coletivo. Os indivíduos que formaram Is rael não eram uma massa uniforme, era um agrupamento de diversas origens, di versas histórias, diversas razões para esta rem ali. E as tentativas de homogeneizar esses indivíduos pela narrativa do mito fundador causou graves crises na socieda de israelense durante décadas.
Junto com grandes parceiros musicais, como Miki Gavrielov e Shalom Chano ch, Arik Einstein foi responsável por in troduzir em Israel um gênero que foi muito combatido durante anos, numa postu ra quase zelota por parte do governo. O rock estava se popularizando no mundo inteiro e os Beatles foram proibidos de to car em Israel em 1965 devido ao receio de que o gênero representado por eles pudes se perverter a juventude israelense. Israel queria preservar sua cultura, que ainda ti nha como referência a hora e as bandas militares, da influ ência estrangeira, a assimilação, a “helenização”.
Outra grande revolução foi com a música Prag. Lançada pouco tempo depois da Guerra dos Seis Dias, foi uma homenagem à Primavera de Praga, que teve fim com a invasão soviética à Tchecoslovaquia. Seu sucesso representou uma vitória cultural – Israel era um país normal, com seus êxitos e problemas internos, e que queria estar sintonizado e integrado ao que acontecia no mundo.
Outra grande revolução foi com a música Prag (Praga). Lançada pouco tempo depois da Guerra dos Seis Dias, quando a euforia sionista estava no seu auge, essa ousada música foi uma home nagem à Primavera de Praga, que teve fim com a invasão soviética à Tchecoslovaquia. Enquanto até então as músicas enalteciam Eretz Israel, o que se enfatizou com a vitória surpreendente na Guerra dos Seis Dias, Shalom Chanoch escreveu e compôs, e Arik Einstein cantou uma “música que eles sonharam sobre Praga”. Com o sucesso dessa música, a sociedade israelense também demonstrou que es tava aberta às questões do mundo. A vi tória militar representou uma vitória fí sica – Israel estava lá para ficar. O suces so da música Prag representou uma vitó ria cultural – Israel era um país normal, com seus êxitos e problemas internos, e que queria estar sintonizado e integrado ao que acontecia no mundo.
Pouco a pouco, Arik e seus parceiros foram introduzin do guitarras elétricas, ritmos mais ousados, chegando até a cantar versões traduzidas de músicas dos Beatles. O ál bum Poozy foi o marco que mudou para sempre o cenário da música israelense.
O lado globalizado de Arik Einstein também se mani festou em relação ao Brasil. Ele frequentava assiduamen te o kibutz Bror Chail (kibutz com alta concentração de imigrantes brasileiros, referência nacional como um pe dacinho do Brasil dentro de Israel), e membros do kibutz participaram de diversas de suas gravações. Na capa do ál bum Svahir Arik aparece acenando e vestindo a camisa de
Essa
música conta a história dos fundadores da cidade de Peta ch Tikva. Yoel Moshe Salomon era um rabino e foi um dos idea lizadores do movimento de saída das muralhas das milenares cida des que já existiam em Israel. Essa música me ensina que a vida é para quem acredita. Ele ficou sozinho na colina, sem nenhuma ga rantia de que veria ou ouviria pássaros.
Letra: Yoram Teharlev
Melodia: Shalom Chanoch
Numa manhã úmida, no ano 5638 (1878), na época da colheita [das uvas Saíram de Yafo, sobre cavalos, cinco cavaleiros Stamper veio, e Gutman veio, e Zerach Barnet E Yoel Moshe Salomon com uma espada na cinta
Com eles cavalgou Mazaraki, o médico grisalho Ao longo do Yarkon o vento canta nos juncos Ao lado de Um Laves eles estacionaram, bem no pântano e no [matagal
A Balada sobre Yoel Moshe Salomon
30 | devarim | Revista da Associação Religiosa Israelita- ARI
Bror Chail, e no álbum Yoshev al haGader a música beShvi chei haSamba é uma linda homenagem ao Brasil, ao sam ba, contendo inclusive partes em português.

Mas apesar desse lado revolucionário, Arik Einstein emprestou sua voz às músicas mais lindas e tradicionais do repertório clássico das shirei moledet, as canções da pá tria. Shir haEmek, Chofim, Ein Gedi, Zemer Ahava laYam, Eretz Israel, Laila Laila são apenas exemplos de algumas que ganharam belíssimas versões na voz de Arik. Seus ál buns Eretz Israel haYeshana vehaTova (A Boa e Velha Terra de Israel) contêm verdadeiros hinos de amor a Israel, e re
presentam a visão mais clássica e sonhadora que os poetas pioneiros e sionistas tinham de uma terra que podia não ser natal originalmente, mas que assim se tornou por uma adoção repleta de amor e entrega.
Quando o trio Chalonot haGvohim (formado por Arik Einstein, Josie Katz e Shmulik Krauss) começou a fazer sucesso na Europa, Arik se sentiu como um peixe fora d’água. Deixou o trio e voltou para Israel. Posteriormen te, teve a oportunidade de fazer dois shows nos EUA. Se gundo ele, aceitou a proposta para ter a oportunidade de assistir ao vivo o basquete americano. Foi nessa oportuni
E sobre uma colina pequena subiram para observar as redondezas
Disse para eles Mazaraki, depois de uma hora curta:
“Não escuto pássaros, e isso é um sinal terrível Se não se veem pássaros, a morte reina por aqui Vale a pena sair rápido, eis que me vou”
O médico pulou sobre seu cavalo, por prezar pela própria saúde E os três companheiros se dirigiram para voltar à cidade com ele
Disse então Yoel Salomon, seus dois olhos delirantes:
“Eu vou ficar essa noite sobre esta colina”
E ele ficou na colina, e entre meia noite e a luz De repente surgiram para Salomon asas de pássaro
Para onde ele voou, por onde ele pairou, não há ninguém que [saiba Talvez isso tenha sido apenas um sonho, talvez apenas uma lenda
Mas quando a manhã subiu novamente além das montanhas
O vale maldito se encheu com o canto de pássaros
E há quem diga que até hoje, ao longo do Rio Yarkon
Os pássaros cantam sobre Yoel Moshe Salomon

Revista da Associação Religiosa Israelita- ARI | devarim | 31
dade que escreveu a letra de San Francisco al haMaim (São Francisco sobre a Água), em que ele reconhece como a pai sagem da cidade americana é linda, mas que isso compro va definitivamente seu amor por Israel, “pequena, quen te e maravilhosa”.
Muitos artistas têm suas próprias imagens nas capas de seus álbuns, como o próprio Arik, em boa parte de seus discos. Mas no álbum Eretz Israel haYeshana veha Tova vol. 3, a capa é um antigo mapa da terra de Israel. A imagem de Arik Einstein se confunde com a própria imagem de Israel.
Uma característica que muito admiro no Arik é sua capacidade de identificar potenciais talentos. Ele ficou co nhecido por suas parcerias, ajudando jovens e principian tes artistas a alavancarem suas carreiras. Arik lançou álbuns e músicas com jovens talentos como Yoram Gaon, Shmu lik Kraus, Josie Katz, Shalom Chanoch, Miki Gavrielov,
Ytzhak Klepter e Yoni Rechter (ambos ex-integrantes da banda Kaveret), Shem Tov Levi, Yehuda Poliker, Yehudit Ravitz, Korin Alal, Peter Rut. Recentemente gravou uma música com Shlomo Artzi.
Depois que Rabin foi assassinado, foi lançado um ál bum duplo chamado Shalom Chaver, com músicas em ho menagem ao primeiro-ministro assassinado. A maioria das músicas já existia, mas quando colocadas num contexto de lembrança de Rabin, ganharam um sentido especial. Esse foi o caso da música Livkot Lecha, que Aviv Gefen compôs e escreveu para um amigo que morrera muito antes num acidente de carro. A música ganhou uma versão linda de Arik Einstein, que foi escolhida para ser a primeira músi ca do primeiro disco. A primeira música do segundo dis co também é de Arik e é a única do álbum duplo que foi escrita especialmente para a ocasião. A letra é dele e a me lodia é de Shem Tov Levi. Enquanto todas as atenções se

32 | devarim | Revista da Associação Religiosa Israelita- ARI
voltavam para o homem que morreu, Arik pensou na mu lher que ficou viva, sozinha. A música é dedicada à viúva de Rabin, Léa. O nome da música é Ze Pitom Nafal Alea (De repente se abateu sobre ela). A genialidade é que, no hebraico, quando se usa uma preposição como al (sobre) ou el (para), junto com o pronome pessoal hi (ela), jun ta-se numa palavra só. Ao invés de al hi ou el hi fica alea e elea. Mas pode-se usar também com um substantivo al

José, el Ana, e, é claro, al Lea e el Lea. A música é toda fei ta na base desse trocadilho e esse é um dos motivos da mi nha paixão pela poesia.
A morte de Arik Einstein no dia 26 de novembro de 2013 devido a um aneurisma foi um evento que trauma tizou Israel e teve um alcance inimaginável. O país ficou em luto, o clima era parecido com o de Yom haZikaron. As pessoas sentiram como se tivessem perdido um fami
Revista da Associação Religiosa Israelita- ARI | devarim | 33
liar muito próximo e querido. Muitos choraram de sauda des e de desamparo.
Mas o que mais me admirou na morte de Arik foi como ela conseguiu, por alguns momentos, unir a sociedade is raelense como um todo. O assassinato de Ytzhak Rabin foi um trauma profundo para boa parte da sociedade israelen se. Mas setores da direita, religiosos ou laicos, não com partilham da dor da perda desse líder que foi apoiado por

muitos, mas despertou revoltas em diversos setores da so ciedade. A recente morte do rabino Ovadia Yossef, que le vou um milhão às ruas para o seu enterro, não foi tão sentida ou lamentada por muitos setores laicos da população. Mas a morte de Arik foi sentida por quase todos. Esquer distas ou direitistas, laicos ou religiosos.
As músicas de Arik Einstein fizeram parte da vida de quase todos os adultos israelenses. E me admira como os
34 | devarim | Revista da Associação Religiosa Israelita- ARI
Em seus discos, pouco a pouco, Arik e seus parceiros foram introduzindo guitarras elétricas, ritmos mais ousados, chegando até a cantar versões traduzidas de músicas dos Beatles, mudando o cenário da música israelense.

laicos e os religiosos, que não conseguem concordar em quase nada, compartilha ram da mesma dor na sua morte.
Arik Einstein teve um grande amigo e parceiro em suas manifestações artísti cas (como no filme clássico Metzitzim), Uri Zohar. Quem conhece Uri Zohar de antigamente ainda tem dificuldade de se referir a ele com o seu título atual, rabino Uri Zohar. Ele se tornou um rabino ul traortodoxo e dois de seus filhos casaram com as duas filhas de Arik Einstein, seu grande amigo de juventude, que, para isso, fizeram teshuvá, ou seja, se torna ram ortodoxas também. O vídeo de um dos casamentos é impressionante e mostra a elite cultural laica israelense dançando animadamente com os ortodoxos de capa pre ta, um vislumbre talvez da Era messiânica. Essa união en tre as filhas de Arik Einstein e os filhos do rabino Uri Zo har despertou grande simpatia do público ortodoxo pela
As músicas de Arik Einstein fizeram parte da vida de quase todos os adultos israelenses. E me admira como os laicos e os religiosos, que não conseguem concordar em quase nada, compartilharam da mesma dor na sua morte.
figura de Arik. Diversas manifestações de lamento e tristeza por sua morte, além de demonstrações de homenagem e respeito por quem ele foi, me deixaram profundamente emocionado ao perceber como ele conseguiu unir de forma tão bonita as emoções e as sensações de setores tão se parados da sociedade israelense. Obrigado, Arik, por me ajudar a su blimar as minhas angústias, celebrar mi nhas alegrias, apreciar minha tranquili dade, viver meu amor e me ensinar li ções de vida.
Rafael Stern é carioca, formado Pelo Eliezer Max e pelo Habonim Dror, em Geografia pela UFF e atualmente é mestrando em Clima e Ambiente pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Foi sheliach de juventude na comunidade judaica de Manaus. Em Israel, estudou pós graduação em Estudos Ambientais no Machon há Ara vá e trabalhou no Instituto Weizmann.
Revista da Associação Religiosa Israelita- ARI | devarim | 35

Kameramachina / iStockphoto.com
r elações interreli G iosas e os conflitos entre liberais e ortodoxos
Fundamentalistas e Liberais
O desejo que os liberais têm de recorrer à mente humana para resolver problemas é frontalmente oposto ao ponto de vista daqueles para quem só se chega à verdade estudando os textos sagrados revelados por Deus, porque a verdade está impregnada neles e a autoridade daquele que interpreta é suprema e inatacável.
Penso que o grande conflito da nossa época não é entre as grandes religiões do mundo, mas, sim, entre os fundamentalistas e liberais de cada lado. E chegamos a um ponto em que não vislumbro como amenizar esta situação.
A mídia constantemente reporta tensões entre cristãos, judeus e muçulma nos. É inegável a existência de enormes diferenças teológicas e de observância entre estas três religiões mosaicas. Se assim não fosse, não haveria motivo para tão diferentes pontos de vista religiosos.
Nos tempos medievais, embora todos admitissem que o Islã tivesse sua base no Cristianismo e no Judaísmo, e que os contatos entre as três tomavam a for ma de disputas onde cada uma tentava provar que apenas ela representava a “verdadeira” religião, o Islã sempre alegou que o fato de ser a mais nova fazia dela a mais verdadeira das três.
Não se pode deixar de mencionar o infame debate ocorrido em Barcelona em 1263 entre o judeu renegado Pablo Christiani e Nahmanides, além da Dis puta de Tortosa em 1413, entre o ex-judeu Joshua Lorki (que se denominava Gerônimo de Santa Fé), Vidal Benveniste e mais 19 judeus, disputa esta que durou um ano. Depois do debate de Tortosa, e apesar de os judeus terem se de fendido razoavelmente bem e das garantias dadas pelo Rei Jaime I que não ha veria consequências nefastas aos judeus, o Talmud foi condenado, foi proibido que os judeus o estudassem e Nahmanides teve que fugir do país.
rabino rifat sonsino
Revista da Associação Religiosa Israelita- ARI | devarim | 37
Hoje em dia as tentativas de diálogo honesto e respeitoso entre judeus e cris tãos são mais produtivas, mas todas as re ligiões padecem com a intransigência de seus respectivos tradicionalistas extremis tas, presos em suas amarras e impossibi litados de aprender uns com os outros.
Quem é e quem não é liberal?
Tarefa difícil definir um “liberal”! Contudo, acho que a definição de Ar thur Schlesinger num artigo publicado no The New York Times em 1956 ain da faz sentido. Ele escreveu: “O liberal acredita que a sociedade pode e deveria ser melhorada e que a maneira de me lhorá-la é aplicar a inteligência huma na aos problemas sociais e econômicos”. Eu acrescentaria que podemos qualificar como fundamentalistas aquelas pessoas que acreditam estarem os seus textos sagrados sempre certos sobre todos os temas, inclusive história, cosmolo gia, normas éticas e práticas religiosas.
O debate entre fundamentalistas e liberais no seio do judaísmo é muito perturbador. Em outubro de 2012, Anat Hoffman, a diretora executiva do Israel Religious Action Center e presidente do Mulheres do Muro, foi presa por um curto período por ter conduzido um serviço religioso para mulheres no Muro Ocidental em Jerusalém.
Histórias pessoais
Passei minha infância na Turquia numa comunidade ortodoxa cujos líde res religiosos não eram muito abertos e não aceitavam a diversidade de opiniões que tornam possível o diálogo. Também tive experiências desagradáveis que acaba ram me levando a abraçar as causas libe rais dentro do Judaísmo. Dois exemplos: em 1988 levei um grupo de importan tes rabinos progressistas norte-america nos para uma exploração judaica da Tur quia. Um dia, tivemos um encontro com David Aseo, o rabino-chefe, que havia sido meu professor de hebraico em criança. Depois de nos dar as boas-vindas, ele começou a me criticar por ter abandona do o judaísmo ortodoxo e disse, na fren te dos meus colegas, “só há um caminho no judaísmo, e é a maneira ortodoxa”. Fi camos todos horrorizados com este enfoque e nos despe dimos, desapontados.
O desejo que os liberais têm de recorrer à mente huma na para resolver problemas é frontalmente oposto ao pon to de vista daqueles para quem só se chega à verdade es tudando os textos sagrados revelados por Deus, porque a verdade está impregnada neles e a autoridade daquele que interpreta é suprema e inatacável. Considero este enfoque perigoso, porque nem todos os textos sagrados escritos há séculos podem satisfazer as nossas necessidades e há um grande risco de enxergarmos nos textos os resultados que desejamos impor aos outros.
Ao contrário, o liberal é alguém que aceita a diversi dade de opiniões e deseja modificar seu comportamento com base em um discurso razoável. A leitura dos textos sa grados como justificativa da posição de uma pessoa é um erro. Um erro que me faz lembrar a maneira como líderes religiosos e outros sabichões políticos do passado usaram e fizeram mau uso dos mesmos textos bíblicos para justificar ou condenar a escravidão nos Estados Unidos duran te os grandes debates entre o Norte e o Sul em meados do século XIX. O fato é que cada exegese acaba sendo uma eusegese, ou seja, uma leitura dos textos já com uma inter pretação pessoal.
Outro exemplo: há alguns anos cheguei a Tel Aviv e embarquei em um sherut (um táxi compartilhado) para ir a Jerusalém. Ao meu lado estava um judeu ortodo xo que me perguntou qual era a minha profissão. Auto maticamente, sem pensar, eu disse que era rabino refor mista. Grave erro! Eu deveria ter dito que era vendedor de sapatos ou de seguros e a conversa teria acabado ali, mas não foi isso o que aconteceu. Pelos 45 minutos se guintes, que foi o tempo que levamos para chegar à ca pital de Israel, meu interlocutor me humilhou pelo su posto erro cometido.
Estes confrontos nunca são agradáveis e não levam a coisa alguma. Atualmente a maioria dos judeus ortodoxos extremistas é incapaz de aceitar o fato de que a sua posi ção é rígida. Sua crença vem da posição estritamente halá chica dos rabinos do final da Idade Média, segundo a qual só existe uma maneira, que é a maneira correta, de seguir as normas religiosas. Seu modelo é o rabino Moses Schrei ber (1762-1839), um rabino ortodoxo alemão também conhecido como Chatam Sofer, que mais tarde viveu na Hungria, e cuja teoria era que “chadas hassur min há-Torá” (tudo o que é novo é proibido pela Tora), uma manei ra engenhosa de interpretar um versículo da Mishnah Or
38 | devarim | Revista da Associação Religiosa Israelita- ARI
lah 3:9, segundo o qual “toda nova safra é proibida pela Lei em toda parte”. Uma verdadeira eusegese.
O conflito hoje
Hoje, o debate entre fundamentalistas e liberais no seio do judaísmo é muito perturbador. Em outubro de 2012, Anat Hoffman, a diretora executiva do Israel Religious Ac tion Center e presidente do Mulheres do Muro, foi pre sa por um curto período por ter conduzido um serviço re ligioso para mulheres no Muro Ocidental em Jerusalém.

Este confronto sórdido entre ortodoxos extremistas e as Mulheres do Muro continua a agitar a opinião pública tanto em Israel como no resto do mundo judaico. Rabinos não ortodoxos não são reconhecidos como legítimos e os eventos do ciclo da vida realizados por eles, tais como ca samentos, não são reconhecidos como válidos. Não pen sem que a discórdia é só entre os extremamente ortodoxos e os liberais em Israel: quero lembrar que em junho pas
sado um rabino ashkenazi em Israel solicitou que seus fi lhos não fossem matriculados em escolas dirigidas por judeus sefaradim.
Os judeus não são os únicos que sofrem desta praga. Internamente, muçulmanos e cristãos também têm o mes mo problema. No dia 2 de julho de 2010, Mansour Fa rhang, professor de Ciências Políticas no Bennington Col lege, publicou na revista New Yorker o seguinte lamento: “O debate mais vigoroso no mundo islâmico é entre os tra dicionalistas que insistem em um significado literal e imu tável do Corão e aqueles que desejam legitimar múltiplas e dinâmicas interpretações do texto e da tradição”. A Irman dade Muçulmana é um bom exemplo de fundamentalistas islâmicos do nosso tempo.
No entanto, apesar das grandes divisões entre sunitas e xiitas do Islã, de ambos os lados há muçulmanos liberais que acreditam na autonomia do indivíduo para interpretar o Corão e aceitam a completa igualdade entre os seres hu
Zepperwing
Revista da Associação Religiosa Israelita- ARI | devarim | 39
/ iStockphoto.com
manos, estando abertos à cultura, a costumes e vestuários modernos. Eu mesmo conheci grupos destas pessoas em Istam bul no verão passado.
Muitos cristãos têm o mesmo dile ma. Entre os católicos, Francisco, o novo papa, que está tentando liberalizar a Igre ja latina, vem sendo constantemente cri ticado pela ala direitista por seus novos es forços. No dia 15 de dezembro de 2013, o Boston Globe informou que “o papa ir rita os tradicionalistas com seus limites na missa latina”, referindo-se às tentativas do papa de tomar medidas enérgicas contra uma ordem religiosa dissidente que celebra a antiga missa em latim.
O diálogo religioso atual
Apesar das grandes divisões entre sunitas e xiitas do Islã, de ambos os lados há muçulmanos liberais que acreditam na autonomia do indivíduo para interpretar o Corão e aceitam a completa igualdade entre os seres humanos, estando abertos à cultura, a costumes e vestuários modernos.
Durante o século XX era mais fácil identificar as di ferentes denominações judaicas, tais como Ortodoxos, Conservadores, Reformistas, Reconstrucionistas, Renova ção Judaica e outros com base em claras linhas de demar cação que separavam umas das outras. Hoje tais linhas es tão bastante nebulosas. Atualmente, se nos basearmos na prática e na crença, é bastante difícil dizermos o que dis tingue um judeu reformista de um judeu conservador. O meu argumento é que a principal divisão está entre os ju deus ortodoxos entrincheirados e os judeus liberais de to das as subdivisões. Os judeus liberais tendem a considerar o judaísmo como dinâmico, evolutivo e em constante pro cesso de mutação. Aceitam gays e lésbicas, afirmam a igual dade dos sexos, vivem segundo o resultado da crítica das escrituras e estão dispostos a aprender uns com os outros.
Faço questão de reforçar que o problema não está en tre todos os judeus ortodoxos e os judeus liberais. Es
tudei com muitos professores ortodoxos esclarecidos que são muito observantes em sua prática, mas são abertos ao es tudo crítico das Escrituras sagradas. Por outro lado, nos deparamos com liberais rígidos que afirmam ser seu caminho o único verdadeiro.
Um diálogo honesto e aberto entre as partes começa quando cada lado admi te não ser dono da verdade e se mostra disposto a aprender com o outro. Quan do alguém alega deter a verdade acaba a conversa, não há para onde ir, a solução é separar-se.
Muitos judeus e cristãos iniciaram um diálogo produtivo através de importan tes declarações como a “Nostra Eaetate” (1965 católica)1 e “Dabru Emet” (2000 judaica)2. Nossa tarefa hoje é imbuir todos os lados de res peito mútuo para que se abram de maneira a aprender uns com os outros.
Notas
1. A Declaracão Nostra Eaetate, sobre as relações da Igreja com as religiões não cris tãs, foi aprovada no dia 28/10/1965 pelo papa Paulo VI. Através dela a Igreja as sumiu oficialmente a abertura de caminhos proporcionada pela visão eclesial da maioria dos bispos participantes do concílio para o diálogo com as religiões não cristãs, denominado dialogo inter-religioso.
2. “Dabru Emet” – “Falai a verdade”, da frase bíblica do profeta Zacarias, 8,16. De claração assinada em 2000 por rabinos norte-americanos também a respeito da abertura quanto as relações inter-religiosas.
O Rabino Rifat Sonsino, PhD, é rabino emérito do Templo Beth Shalom em Needham, MA, EUA, e professor do Departamento de Teologia do Boston College.
Traduzido por Teresa Cetin Roth.
 Jaranjen
Jaranjen
/ iStockphoto.com


Luis Portugal / iStockphoto.com
e d eus V iu que não era bom
ATorá (os cinco primeiros livros da Bíblia Hebraica) provoca fortes emoções há milênios, sem sinal de arrefecimento. Do deslumbramento dos que a consideram a inquestionável e irretocável palavra de Deus à perplexidade dos que se perguntam como um texto que inclui uma coleção de lendas infantilizadas pode ser tão fundamental para a humanidade.
Dos cinco livros, é o começo do primeiro – Bereshit/Gênesis – que provoca o maior espanto, visto residir lá a maior coleção de histórias inverossímeis. O que fazem as lendas de Eva e a serpente, do dilúvio e da Torre de Babel, num livro que supostamente contém a verdade suprema ditada por Deus, pergun tam-se os perplexos.
A meu ver esta perplexidade se diluiria se houvesse a compreensão de que a linguagem da Torá não é nem científica nem histórica. Que ela usa uma lin guagem poética e altamente metafórica para descrever os seus três objetos cen trais: o ser humano, a organização social e os israelitas1. Que as lendas dos pri meiros capítulos de Bereshit servem ao propósito de descrever o ser humano e as organizações sociais, numa sequência sabiamente encadeada: primeiro se des creve o todo para depois focar num pequeno e singular estrato da humanidade.
E, finalmente, que há uma mensagem subjacente ao seu conjunto e orde nação, que é maior do que a mensagem de cada uma das lendas isoladamente.
A leitura da Torá, a partir da excelente tradução do professor Robert Alter2 e a participação nos grupos de estudo da ARI, transformaram a minha perplexi
O que faria Deus se percebesse que uma determinada etapa não tinha sido boa? Destruiria tudo e recomeçaria? Tentaria ajustar o que estava errado? Desistiria da tarefa? Não conhecemos a resposta, pois não há avaliação negativa durante a criação do mundo.
raul cesar Gottlieb
Revista da Associação Religiosa Israelita- ARI | devarim | 43
dade inicial em encantamento e foi a partir daí que vislumbrei a ligação dos 11 pri meiros capítulos de Bereshit com a saga dos israelitas, que começa no capítulo 12. Este artigo pretende expor esta visão.
E Deus viu que era bom
Ao final de cada passo da criação a Torá repete a fórmula “E Deus viu que era bom”, sendo que ao final da última etapa a intensidade cresce:
E Deus observou tudo o que Ele tinha feito e eis que estava muito bom.
Estas frases parecem indicar que Deus, como todos os que criam sistemas complexos, também se ocupa em avaliar cada etapa da obra antes de passar para a pró xima e, além disso, faz uma última avaliação final para se certificar de que o conjunto está harmônico e funcional.
Curiosamente o texto de Bereshit chama a árvore proibida de “árvore da vida”. Talvez porque antes de conhecer o bem e o mal a pessoa respira, mas não há vida autônoma nela. Ou talvez o nome seja uma ironia, visto que a árvore da vida é aquela que trará a morte se você comer dela!
ção benevolente num ambiente tão incrivelmente aprazível que o local é idea lizado até hoje como o paradigma máxi mo do bem-estar.
Deus, o grande provedor, fez apenas uma exigência:
E o Eterno fez florescer do solo todas as árvores adoráveis de se ver e boas para comer, e a árvore da vida estava no meio do jardim, a árvore do conhecimento, do bem e do mal.
E o Eterno ordenou ao humano di zendo: De todas as frutas do jardim você certamente poderá comer. Mas da árvo re do conhecimento, do bem e do mal, você não deverá comer, porque no dia em que você comer dela, você estará fada do a morrer.
O que faria Deus se percebesse que uma determinada etapa não tinha sido boa? Destruiria tudo e recomeçaria? Tentaria ajustar o que estava errado? Desistiria da tarefa? Não conhecemos a resposta, pois não há avaliação negati va durante a criação do mundo.
Contudo, a continuada avaliação divina a cada passo da criação me dá a impressão que temos ao menos uma mensagem inquestionável: Deus não tem certezas. Como qualquer engenheiro ou artista, Ele coloca a Sua criação à prova para avaliar a qualidade da obra antes de dar o próximo passo.
No processo do estabelecimento do cenário (a nature za) onde ocorrerá o drama (no sentido teatral do termo) descrito na Torá as avaliações positivas se sucedem. Porém, quando os humanos começam a interagir entre si as coi sas não se mostram tão boas assim. O ser humano isolado na natureza foi brindado com um “muito bom” por Deus, mas quando está em grupo seu resultado é sofrível. Qua tro tentativas de organização social são tentadas e só a úl tima prospera. Vejamos.
A primeira tentativa: O despotismo esclarecido do Gan Eden
O Gan (jardim) Eden tinha uma organização social muito simples. Havia um grande provedor que só que ria o bem dos súditos. Os súditos viviam sob sua prote
O esquema político estabelecido no Éden se pare ce muito com a estrutura do “despotismo esclarecido” que floresceu em alguns países da Europa pré-iluminis ta, onde o governante tratava muito bem o seu povo, não exigindo nada além do direito de ser o governante.
Infelizmente o sistema não funcionou! Nem no Jardim do Éden e nem na Europa pré-moderna.
O ser humano não conseguiu resistir à sua própria na tureza e, desdenhando o conforto de uma vida sem per calços, desenvolveu a consciência, o desejo e o espírito crí tico, incompatibilizando-se com a obediência cega a um grande provedor.
A história é conhecida: a serpente (um animal que fala, tal qual os personagens de La Fontaine) desperta a curiosidade em Eva e ela, por pura vontade de enfren tar algo novo, come a fruta proibida, gosta e serve a fru ta a Adão. Imediatamente ambos perdem a inocência in fantil que Deus havia tentado preservar neles, certamen te para protegê-los.
No momento em que Eva e Adão ganham a consciên cia, Deus vê que o modelo do Gan Eden não é bom para os humanos. Que seres com curiosidade e consciência nem serão felizes nem se sentirão plenos sob a tutela de um go vernante absolutista, mesmo se este governante for ines gotavelmente bom.
Deus, então, adota um procedimento muito usado quando se percebe uma não conformidade no projeto:
44 | devarim | Revista da Associação Religiosa Israelita- ARI
modifica os planos originais. Ele deixa a natureza intoca da, mas retira os humanos do Eden e fecha este mitológi co espaço para sempre.
E o Eterno expulsou o humano e colocou a leste do Jar dim do Éden o querubim e a chama da espada giratória para proteger o caminho para a árvore da vida.
Deus não mata os humanos como havia ameaçado. Tal qual as mães que ameaçam a desobediência de seus filhos com as mais terríveis consequências, aquela amea ça era vazia. Era fruto do amor desmesurado do Criador por sua criatura, mas que ambos intuíam que jamais se ria cumprida.
Curiosamente o texto de Bereshit chama a árvore proi bida de “árvore da vida”. Talvez porque antes de conhecer o bem e o mal a pessoa respira, mas não há vida autônoma nela. Ou talvez o nome seja uma ironia, visto que a árvore da vida é aquela que trará a morte se você comer dela! Ou será que isto evidencia que a ameaça divina era tão vazia quanto as ameaças das mães muito exaltadas?

Qualquer que seja o caso, o fato é que a primeira tenta tiva de organização social falhou. Nem mesmo um gover nante inteiramente benevolente e bem intencionado satisfaz a natureza questionadora, criativa, impulsiva e sensual dos humanos. Uma boa mensagem para os que se julgam mais inspirados (ou “evoluídos” ou “esclarecidos”) que a sociedade em que vivem e que tentam, então, impor a ela os seus caminhos. Pena que nem todos a escutaram.
A segunda tentativa: A anarquia pré-diluviana
Passam-se os anos e a humanidade vai se povoando ao mesmo tempo em que sua organização social descamba para a desordem geral, onde a lei do mais forte impera de forma absoluta. Instaura-se a anarquia: uma sociedade sem governo e sem freios.
E aconteceu quando a humanidade começou a se mul tiplicar pela terra e filhas nasceram para os homens, que os filhos dos deuses viram que as filhas deles eram bonitas e eles tomaram como esposas para si quem bem escolhessem...
“E Deus observou tudo o que Ele tinha feito e eis que estava muito bom”.
Revista da Associação Religiosa Israelita- ARI | devarim | 45
Os Nefilim estavam então na terra e também mais tarde quando os filhos dos deuses vieram para dentro3 das filhas dos homens que lhes geraram filhos. Eles são os heróis de antigamente, homens de re nome.
Estas frases contêm pelo menos dois enigmas perturbadores. Primeiramente: o que fazem filhos de deuses num tex to monoteísta? Muitas traduções inter pretam a frase como “filhos dos nobres” e evitam o embaraço. Mas, na realidade, “bnei há eloim” quer dizer literalmente filhos dos deuses.
Em seguida, quem são estes Nefilim que conviviam com os filhos dos deu ses? A semântica em hebraico sugere algo como “os caídos”, “os que caíram”. Porém, mais à fren te, em Bamidbar/Números, os Nefilim são descritos como sendo gigantes.
A Torá continua relatando uma série de situações onde as atitudes dos homens não agradam a Deus. Mas, basicamente, elas acontecem quando há desobediência ao fundamento do respeito à individualidade, que induz ao estabelecimento de acordos de convivência.
Neste momento Deus mais uma vez percebe que não está bom e adota outra atitude usual dos criadores de sistemas: salvar o que é possível, destruir o resto e começar de novo.
E arrependeu-se o Eterno de ter cria do os humanos na terra, arrependeu-se em seu coração. E disse o Eterno: extermina rei da face da terra a raça humana que Eu criei, de homens a gado, aos seres rastejantes, às aves do céu, porque Eu me ar rependi de tê-los criado.
Um gigante não é necessariamente uma pessoa de gran de estatura física. Pode ser “apenas” uma pessoa de desta que (por exemplo, Ben Gurion e Beethoven foram gigan tes). Assim, parece-me que tanto os filhos dos deuses como os Nefilim indicam pessoas poderosas, sendo que os pri meiros se julgam tão superiores a ponto de advogar des cendência divina.
Já o cenário sexual do trecho dá a entender que se al guém pode estuprar sem limites, este alguém pode tudo. Portanto, os dois versos acima descrevem uma sociedade em luta constante, onde os mais fortes subjugam os mais fracos. Ironicamente os poderosos execráveis são qualifi cados como “heróis de antigamente, homens de renome”, sugerindo que nas sociedades sem lei os maiores opresso res são vistos como os paradigmas da qualidade.
Deus vê isto tudo e não gosta de nada.
E o Eterno vê que o mal nas criaturas humanas era grande na terra e que cada desígnio de seu coração era per petuamente mau.
Comprova-se aí que os filhos dos deuses e os Nefi lim são referências a humanos. E também que a falta de freios sociais corrompe a todos, fortes e fracos. Estes últi mos também, pois a única esperança que lhes resta é tornarem-se fortes para passar a subjugar. A falta de leis apo drece toda a sociedade.
Como segue a história todos sabem: Deus acha a melhor família no meio da quele cenário desolador: a família de Noé. Deus lhes ordena construir a arca, habi tá-la com um casal de animais de cada es pécie. Em seguida advém o dilúvio com a destruição total da humanidade: filhos de deuses e Nefilim, mulheres for mosas e suas famílias, estupradores e estupradas, tudo. Se ao final da criação da natureza Deus tinha visto que estava tudo muito bom, desta vez Deus certamente viu que esta va tudo muito mau.
Assim se fecha o segundo ciclo de organização social descrito na Torá. O pêndulo oscilou do ordenamento rígi do de um governante benevolente à falta completa de leis e de governo sem encontrar o equilíbrio. A humanidade parte em busca de um novo modelo.
A terceira tentativa: A tirania da maioria E toda a terra era um idioma, um conjunto de pala vras...
E eles disseram uns para os outros: venha, vamos co zer tijolos e queimá-los fortemente. E os tijolos serviram de pedra e betume de argamassa. Venha, vamos construir para nós uma cidade e uma torre com o seu topo nos céus, para que façamos um nome, pois senão seremos dispersos na terra.
Assim começa o relato sobre a Torre de Babel, cuja se quência também é muito conhecida. Deus não gosta do que vê e resolve semear a discórdia entre este grupo homo gêneo, separando-os por toda a terra – exatamente o opos to do que pretendiam.
Mas a Torá não explica do que Deus não gostou. Limi ta-se a registrar uma fala críptica Dele:
46 | devarim | Revista da Associação Religiosa Israelita- ARI
Se como um povo e com uma linguagem para todos foi isto que eles começaram a fazer, nada mais do que plane jarem vai detê-los.
Nós somos levados a acreditar que união é sempre boa. Que ela apaga as discórdias e permite ao grupo conseguir mais para todos. Mas Deus discorda – ele vê a união e não acha bom. Por que será?
Certamente a expressão “Toda a terra” explica isto. O que temos aqui é a aderência de toda a humanidade a um projeto único, sem levar em conta as diferentes indivi dualidades. Concorde você ou não com o projeto da torre, a vontade majoritária do grupo lhe obriga a fazê-la.
Deus sabe que esta união exacerbada é antinatural e que ela só pode estar sendo imposta através do silêncio aos grupos minoritários. Em palavras modernas: o problema de Babel é o desrespeito às minorias.
A meu ver, o que Bereshit nos diz aqui é que as minorias devem ter o direito de seguir os seus caminhos singu lares. A tirania da maioria também não agrada a Deus e Ele mais uma vez vê que não está bom e muda o seu pro jeto, abrindo espaço para uma nova e definitiva tentativa de organização social.
O que deu certo: A sociedade do pacto
Uma vez estabelecida a aversão ao despotismo, à anar quia e à ditadura da maioria, o pêndulo se move na direção de um pacto social onde se valorizam as minorias. E é neste processo que nasce a “nossa” minoria: os descenden tes da família de Abrão/Abraão, Isaac e Jacó/Israel.
E o Eterno disse a Abrão: vá da tua terra, do teu lu gar de nascimento e da casa do teu pai ao lugar que eu te mostrarei.
A meu ver, Deus indica: se você não se sente bem com as crenças e os costumes de onde está não tenha medo de deixar este lugar para trás, mesmo sendo ele a casa da tua família. Não tenha medo de ser uma minoria. Vá!
Bereshit não dá nenhuma razão para o desagrado de Abrão, muito pelo contrário: Abrão segue o pai quan do ele sai de Ur e o pai já é falecido quando Abrão es cuta a palavra de Deus. É o midrash 4, com a história da quebra dos ídolos, que tem sensibilidade de perce ber que Abrão não se sentia bem onde estava. Afinal, deduz o formulador daquele midrash, Deus – o para digma da bondade – não dividiria uma família sem ter bons motivos para tal.
 “E arrependeu se o Eterno de ter criado os humanos na terra”.
“E arrependeu se o Eterno de ter criado os humanos na terra”.
Revista da Associação Religiosa Israelita- ARI | devarim | 47
Abrão/Abraão tem medo – todas as minorias têm – e Deus lhe aparece repetidas vezes para assegurá-lo de que tudo vai ficar bem. Vejam a primeira vez:
E Eu abençoarei aos que te abençoarem, e àqueles que te rejeitarem, Eu amaldiçoarei. E todos os clãs da terra se rão abençoados através de você.
Deus está fortalecendo a resolução de Abrão e ao mes mo tempo está estabelecendo uma verdade: as sociedades que respeitam as suas minorias são abençoadas (têm chan ces de prosperar), mas as que as maltratam são amaldiço adas (se destroem).
Isto era tão verdadeiro na Idade do Bronze em que vi veram nossos patriarcas como é verdadeiro hoje. O respei to à individualidade sinaliza o grau de sanidade da socie dade e determina a sua longevidade.
Seguindo na leitura da vida do patriarca vemos emer gir outra característica fundamental no seu comportamen to que deriva do respeito aos terceiros: Abrão/Abraão faz acordos, ele negocia.
Faz acordo com seu primo Lot para separar os reba nhos. Faz acordo com Deus para salvar o que fosse possí vel de Sodoma e Gomorra. Faz acordo com os Hititas para comprar um túmulo para Sara.
Este padrão é seguido por seus descendentes, até o pi náculo do Monte Sinai, onde até mesmo a legislação divi na se sujeitou a um pacto antes de ser estabelecida. É sin gular isto. Deuses não negociam – eles impõem a sua von tade e ponto final. Mas o Deus da Torá faz acordos.
A Torá continua relatando uma série de situações onde as atitudes dos homens não agradam a Deus. Mas, basica mente, elas acontecem quando há desobediência ao fun damento do respeito à individualidade, que induz ao esta belecimento de acordos de convivência.
Muitos séculos mais tarde a Mishná traduziu este fun damento com a brilhante frase:
Portanto [em Bereshit], o homem foi criado sozinho para ensinar que quem destrói uma única alma é como se tivesse destruído todo um mundo; e que quem salva uma única alma é como se tivesse salvo todo um mundo.
Observações finais
Certamente a minha leitura não é a única interpreta ção possível do texto bíblico. O máximo que se pode di zer é que ela é uma dentre muitas.
Ela é alinhada com a valorização da individualidade do ser humano, que é um dos pilares centrais do judaísmo. A valorização do indivíduo acarreta no respeito às minorias e na maravilhosa constatação de que o mundo é composto por um mosaico de minorias. E isto casa perfeitamente com Bereshit, onde nossos patriarcas fundadores formam uma pequena minoria em processo de desenvolvimento de uma visão singular de mundo.
Minha leitura também parte do princípio que Deus, em sua comunicação com os homens, utiliza todo o ar senal da literatura, incluindo as fábulas, as metáforas, as parábolas e a poesia. Penso que, ao entregar a Torá, Deus pretendeu ser entendido pelos homens, então a escolha da linguagem humana, com todas as suas nuances, faz o maior sentido.
A cantora israelense Naomi Shemer ao comentar sobre incoerências entre o relato bíblico e algumas escavações ar queológicas disse:
Eu não sou especialista em arqueologia, mas o que im porta se aconteceu ou não? Suponha que a Bíblia nunca tenha existido, que tudo foi apenas uma fábula. Eu penso que esta fábula está mais viva hoje do que todas as pedras!
Esta observação me parece muito sábia. A ciência é uma necessidade fundamental para os humanos, mas a po esia e a fábula também o são e não há nenhuma razão para crermos que Deus só se manifesta através de verdades cien tificamente comprováveis.
Uma pequena nota final: limitei o texto ao essencial para a condução do raciocínio entre as quatro formas de organização social que percebo nas lendas de Bereshit. O texto é muitíssimo mais rico do que os poucos trechos que usei, assim como são muitíssimo variadas as suas leituras.
Raul Cesar Gottlieb é engenheiro, diretor de Devarim, ativista da ARI, da WUPJ e participante dos grupos de estudos de Torá da ARI.
Notas
1. Considero “Israelitas” tanto os descendentes de Jacó/Israel como as famílias dos patriarcas.
2. The Five Books of Moses: a Translation with Commentaries, de Robert Alter, publi cado em 2004 por W. W. Norton & Company. As citações de Bereshit foram tra duzidas a partir deste livro.
3. Robert Alter registra três formas de descrição do ato sexual em Bereshit: “vir para dentro” (ou “penetrar”), “conhecer” e “ir para a cama com”. A primeira, que é a usada neste trecho, é inegavelmente a mais crua.
4. O midrash é o método de interpretação que recorre a histórias complementares, criadas pelos intérpretes, para explicar as passagens do texto da Torá.
48 | devarim | Revista da Associação Religiosa Israelita- ARI


Rohojamagic / iStockphoto.com
a pele de a uschwitz
A importância da comunidade no suporte ao insuportável na obra de Charlotte delbo
O que caracteriza as mulheres francesas que apoiaram e ajudaram a Resistência? Algumas eram idealistas. Outras eram forasteiras e talvez até revolucionárias. Assim como na resistência masculina, elas eram uma minoria entre a população. Todos os que participaram da resistência eram indivíduos corajosos com muito caráter.
nathalia c. b. sacks
OHolocausto é normalmente retratado pelos olhos dos judeus sobre viventes, refletindo a dor e o sofrimento destes durante o período mais terrível da história mundial. No entanto, entre os estimados 11 milhões de pessoas que morreram nas mãos dos nazistas entre 1933 e 1945, cerca de cinco milhões pertenciam a grupos que ou recusaram a reco nhecer a liderança de Adolf Hitler ou de quem o Führer alemão não gostava – oponentes políticos em particular.
Um dos maiores filósofos do século 20, Nietzsche, fez a seguinte pergunta: “O que é melhor: ser mais monstruoso que o monstro ou ser devorado em silêncio?” Em outras palavras, é melhor lutar contra um monstro, mesmo que por meios ainda mais monstruosos, ou se deixar consumir por ele? A resistência francesa durante a Segunda Guerra Mundial é um exemplo perfeito de como não se dei xar consumir pelo monstro, os nazistas neste caso. A resistência lutou energi camente, usando todos os recursos disponíveis para vencê-los. Neste texto, vou explorar e analisar esta horrível experiência através dos olhos femininos da re sistência francesa. Embora elas não tivessem necessariamente descendência judaica, elas lutaram pela sobrevivência e pela resistência à ocupação nazista com tanto ódio como os judeus.
Não importa quantas vezes eu releia Um Trem no Inverno, de Caroline Moo rehead, O Comboio de 24 de Janeiro, de Charlotte Delbo, e Irmãs na Resistên cia, de Margaret Collins Weitz, o sentimento de comunidade e de solidariedade
Revista da Associação Religiosa Israelita- ARI | devarim | 51
que foi formado entre as mulheres, não só na resistência, mas também nos campos de concentração, não deixa de me surpreender. Portanto, estes pedaços de literatura são o ponto de partida para o meu texto, servindo como plano de fundo para entender e decifrar os extraordinários des taques literários que são encontrados em Auschwitz e De pois, escrito pela résistante Charlotte Delbo.
Em 1940, foram aprovadas na França medidas para evitar que as mulheres casadas saíssem para trabalhar. Em julho, poucos dias antes da criação do regime de Vichy, o governo de Pétain disse aos prefeitos que providencias sem nas empresas de suas municipalidades a demissão de todas as mulheres cujos maridos haviam sido desmobili zados pelo exército, inclusive nos casos em que o marido estava desempregado e a família dependia somente do salário da esposa.
Isto disparou uma forte discriminação no local de tra balho contra as mulheres, cujos salários começaram a mos

trar uma enorme desigualdade quando comparados com os dos homens. Enquanto isto, na área de educação, os examinadores foram orientados a “passar” menos meninas do que meninos no exame de bacharelado. Essas ações foram estimuladas pelos “três K” da doutrina de Hitler, Kin der, Küche, Kirche (iniciais das palavras em alemão que restringem as mulheres à maternidade, à cozinha e à igre ja) e foi neste contexto que muitas mulheres francesas se recusaram a aceitar primeiro o regime Vichy e, depois, o regime nazista que se instaurou sem disfarces na França.
O general Charles de Gaulle, um desconhecido na épo ca, transmitiu uma forte mensagem condenando tanto a passividade para com os nazistas como a colaboração com eles. Suas mensagens eram transmitidas pela BBC e ge ralmente giravam em torno do mesmo tema: Era um cri me os cidadãos franceses seguirem ordens dos ocupantes e era uma honra desafiá-los. “Em algum lugar deve brilhar e queimar a chama da resistência francesa!” Esta frase ecoou
Debstheleo / iStockphoto.com
fortemente, inspirando muitos franceses a não ceder aos alemães e criou a faísca ne cessária para o surgimento da resistência. A ocupação alemã tornou possível tanto para as mulheres como para os homens tomar parte ativa na guerra de maneiras não tradicionais, sendo uma delas a re sistência subterrânea. Neste recém-defini do campo de batalha as mulheres foram capazes de tomar a decisão pessoal de se juntar à luta, assumindo todos os riscos associados: lesões, prisão, tortura e morte.
O que caracteriza as mulheres fran cesas que apoiaram e ajudaram a Resis tência? Algumas eram idealistas. Outras eram forasteiras e talvez até revolucioná rias. Assim como na resistência mascu lina, elas eram uma minoria entre a po pulação. Em minha opinião, todos – ho mens e mulheres – os que participaram da resistência eram indivíduos corajosos com muito caráter. E Vichy com certeza queria esmagar o in dividualismo. A resistência transcendeu barreiras sociais, reunindo pessoas de todos os tipos de condições econô micas. Havia atrizes famosas, mas também pequenos bis cateiros. Alguns altamente intelectualizados e outros que mal sabiam ler. Era realmente uma mistura extraordinária.
Em seu absolutamente realista e comovente Auschwitz e Depois, Charlotte Delbo explora os horrores, os sentimentos, as memórias e as experiências de ser prisioneira e de ser sobrevivente do Holocausto. O livro é escrito com tanta pungência em sua descrição crua que o leitor fica esmagado pela verdade.
tência francesa; demais para caber neste artigo. Por esta razão, vou focar apenas na magnífica Charlotte Delbo.
Paul Celan, um judeu nascido na Romênia e sobrevi vente de um campo de concentração, em seu poema Fuga da Morte, faz uma oposição ambígua entre Margareta e Su lamita: “Seu cabelo dourado Margareta / seu cabelo de cin zas Sulamita”. Com o contraste entre uma mórbida apa rência judaica e uma vívida aparência ariana, ele evoca a discriminação tóxica do Terceiro Reich. Por outro lado, as 230 corajosas mulheres de Um Trem no Inverno exce deram especificamente essas diferenças, entre muitas ou tras, fazendo uma única causa contra a Alemanha nazis ta. Professoras, escritoras, estudantes e donas de casa, uma atriz, uma parteira e uma dentista. Loira e morena, jovem e idosa, judia e católica. Estas mulheres espalharam pan fletos antinazistas, esconderam resistentes, transportaram armas e levaram mensagens secretas. Desconhecidas umas às outras, essas mulheres corajosas estavam unidas por seu compromisso comum com a Resistência.
Houve várias maravilhosas figuras femininas na resis
Foi conscientemente que Charlot te Delbo escolheu se envolver na resis tência comunista francesa. Nascida em 1913 nos arredores de Paris, Delbo abandonou a turnê sul-americana da compa nhia teatral de Louis Jouvet na Argenti na, onde ocupava o cargo de secretária, quando soube que um de seus amigos havia sido morto pela polícia de Pétain em novembro de 1941. A França foi in vadida pela Alemanha em maio de 1940 e já em junho havia cedido ao armistí cio. O norte da França caiu sob o contro le alemão e colaboracionista de Pétain, o governo antissemita, anticomunista e to talitário de Vichy. Delbo voltou para Pa ris e trabalhou com seu marido, Geor ges Dudach, na Resistência. Charlotte e seu marido foram presos quatro meses após sua chegada em Paris. Ele foi morto logo em seguida. Ela ficou cin co meses no campo de Romainville e foi transportada para Auschwitz Birkenau num comboio de 230 mulhe res, dentre as quais apenas 49 sobreviveram. Delbo sobre viveu – não como judia, mas como prisioneira política –ficando lá por 27 meses.
Em seu absolutamente realista e comovente Auschwitz e Depois, Charlotte Delbo explora os horrores, os sentimen tos, as memórias e as experiências de ser prisioneira e de ser sobrevivente do Holocausto. O livro é escrito com tan ta pungência em sua descrição crua que o leitor fica esma gado pela verdade. O livro transita entre diversas formas: em algumas partes ele assume uma narrativa histórica, enquanto que em outras ele se parece muito com um poe ma. Delbo brinca com as convenções, evitando pontuação, usando uma linguagem muito ousada e coisas aparentemente normais para contrastá-las com a terrível realidade.
Como muitos outros detentos que escreveram sobre suas terríveis experiências, Delbo tenta mostrar o que aconteceu no campo: ela não está interessada em descri ções abrangentes, mas em causar impacto nos leitores. Com a ajuda da linguagem poética ela nos faz comparti lhar, tanto quanto possível, a sua inacreditável experiên
Revista da Associação Religiosa Israelita- ARI | devarim | 53
cia. Sua recriação das prisioneiras detidas é a de seres humanos tentando sobrevi ver: não há heroísmos ou resistência. Se há uma menção de luta, é contra a de ser reduzida ao nível de animais e a de preser var a vontade de viver, quando a morte se torna mais atraente do que a vida.
Na medida em que Auschwitz e De pois pode ser considerado como o relato de uma única história, seu epítome seria algo parecido com isto: o primeiro volu me começa com a chegada em Birkenau -Auschwitz e termina enquanto Charlot te Delbo ainda está em Birkenau. A se gunda começa em Birkenau e termina com a liberação em Ravensbrück e a ter ceira, na qual ela relata principalmente sua deportação, consiste de testemunhos atribuídos a algumas colegas sobreviven tes. Desta maneira, é através de um esti lo complexo e de intensas técnicas lite rárias que suas memórias levam o leitor para um lugar que ele nunca poderia ter ido por si só, para Auschwitz e a vida que se segue ao campo.
Charlotte Delbo começa seu livro com duas frases: “Hoje eu não estou certa de que o que eu escrevi é verda de. Estou certa de que é verdadeiro”. Ao iniciar suas me mórias com essas palavras, ele cega o leitor e o prepara para o que está por vir, colocando todo o livro em perspectiva. Além disso, ao nomear o primeiro capítulo Nenhum de Nós Retornará, ela está dizendo que as pessoas não deveriam ter sobrevivido ao campo; elas deveriam ter morrido de uma forma ou outra. Além dessa noção de retorno, ela também se preocupa com o fato de que uma vez que alguém sobre vive a algo tão terrível e traumático como este, a pessoa de modo algum permanece a mesma. Assim, mesmo quan do ela e alguns de seus companheiros voltam para suas ca sas, estão profundamente alterados até o interior de seus últimos ossos, quebrados para sempre e incapazes de vol tar para quem, o que e onde estavam antes de Auschwitz.
A questão da comunidade é trazida pelo primeiro tí tulo de sua trilogia, Nenhum de Nós Retornará. O seu elemento mais instigante pode muito bem ser o pronome da primeira pessoa do plural “nós”. A quem exatamente esse
pronome se refere? Como dito anterior mente, Delbo foi presa e deportada por razões políticas e a sua vida nos campos foi passada principalmente na companhia de mulheres de seu próprio comboio cuja diferença de etnias e de classes deu origem a uma solidariedade criada entre nacionalidades e idiomas. E, de fato, o pronome se refere a estas prisioneiras com as quais Delbo compartilhou semelhanças. A sobrevivente que, assim como Delbo, opta por dar testemunho e desta forma que brar o silêncio imposto pelo nazismo e li bertar o seu aprisionado discurso, desco bre que a libertação envolve muitas restri ções que podem revelar-se ainda mais pa ralisantes, pois não assume a forma con creta de portões e arame farpado. Foi na quele mundo miserável, por meio de so lidariedade e do improvável sonho de so brevivência, que os humanos resistiram à pressão de serem reduzidos ao mais baixo nível – o nível dos animais.
Dos três livros que compõem Aus chwitz e Depois o terceiro volume, chamado A Medida de Nossos Dias, é o mais difícil de ler. Aqui ela escreve textos curtos para os que se tornaram a sua “nova família” depois de Auschwitz. Cada texto faz referência a uma das mulhe res que resistiram ao inferno com ela, muitas vezes ques tionando a vida e a morte. Ela mesma morreu como mui tos outros de seus amigos em Auschwitz. Embora eles pos sam ter acabado nas chaminés, ela, como uma sobreviven te, morreu ali no acampamento, junto com seus compa nheiros. “Olhando para mim, alguém poderia pensar que eu estou viva... Eu não estou viva, eu morri em Auschwitz, mas ninguém sabe.”
Depois de Auschwitz, Delbo falou que tem dois eus. Seu eu durante Auschwitz e seu eu pós-Auschwitz, fazendo uma analogia de uma cobra trocando de pele para in vocar o sentido de sua nova natureza em desenvolvimen to após os 27 meses passados no campo. Infelizmente, ao contrário da pele da cobra que se desintegra, o que Delbo chamou a pele de Auschwitz resistiu. “Auschwitz é tão pro fundamente gravado na minha memória que eu não posso esquecer em nenhum momento. [...] Eu moro ao lado do Delbo se preocupa com o fato de que uma vez que alguém sobrevive a algo tão terrível e traumático como este, a pessoa de modo algum permanece a mesma. Assim, mesmo quando ela e alguns de seus companheiros voltam para suas casas, estão profundamente alterados até o interior de seus últimos ossos, quebrados para sempre e incapazes de voltar para quem, o que e onde estavam antes de Auschwitz.
54 | devarim | Revista da Associação Religiosa Israelita- ARI
campo.” “Ao contrário da pele da cobra, a pele da memória não se renova. Pensar nisso me faz tremer de apreensão.”
Por fim, a representação literária de Charlotte Delbo que expressa sua expe riência no inferno conhecido como Aus chwitz-Birkenau destaca o heroísmo das mulheres. O sentimento de comunida de as fez sobreviver aos horrores de Aus chwitz. Ela documenta as atrocidades em um livro minimalista de 354 páginas en volvendo prosa e poesia. Suas maravilho sas memórias ameaçam a opinião inicial de Adorno, no qual seria bárbaro escre ver poesia depois de Auschwitz. Claro que logo em seguida ele retirou sua declara ção devido aos inúmeros trabalhos artís ticos que são chamados hoje de literatura do Holocausto. Mais uma vez devo ci tar o meu filósofo favorito, ao concordar que: “O Homem é o animal mais cruel”. É a justaposição de saber o certo e o errado e intencional mente decidir fazer o errado que faz do homem o pior e o

Infelizmente, ao contrário da pele da cobra que se desintegra, o que Delbo chamou a pele de Auschwitz resistiu. “Auschwitz é tão profundamente gravado na minha memória que eu não posso esquecer em nenhum momento. [...] Eu moro ao lado do campo.” “Ao contrário da pele da cobra, a pele da memória não se renova. Pensar nisso me faz tremer de apreensão.”
mais cruel animal. Mas, por outro lado, foi principalmente devido aos outros que muitos prisioneiros foram capazes de “so breviver” a Auschwitz.
De fato, Delbo concordaria plena mente com esta frase. Como não concor daria?
Bibliografia
Collins, W, Margaret. Sisters in the Resistance: How Women Fought to Free France. New York: J. Wiley, 1995.
Delbo, Charlotte. Auschwitz and After. New Haven: Yale UP, 1995.
Delbo, Charlotte. Convoy to Auschwitz: Women of the French Resistance. Boston: Northeastern UP, 1997.
Moorehead, Caroline. A Train in Winter: An Extraordina ry Story of Women, Friendship and Resistance in Occupied France. New York: Harper Collins, 2011.
Kedward, Roderick. Occupied France: Collaboration and Re sistance. Oxford: Basil Blackwell, 1986.
Nathalia Constantino Borges Sacks é estu dante de Relações Internacionais e Ciências Po líticas na Faculdade de Canisius, Buffalo, Nova Iorque. A mesma também foca em história europeia, o período do Holocausto em particular.
Revista da Associação Religiosa Israelita- ARI | devarim | 55
Xaban / iStockphoto.com

Brasil2 / iStockphoto.com
Ao longo dos anos 1930 a política imigratória brasileira, até então relativamente pouco restritiva, foi sendo modificada de modo a estabe lecer impedimentos da entrada no País a certos grupos de estrangei ros. No fim da mesma década e início da seguinte, o Estado esteve especialmente ocupado em aprimorar as regras de concessão e permanência de estrangeiros no Brasil mantendo-se especialmente atento em fazê-las cum prir. Essas mudanças estiveram relacionadas ao contexto internacional, como também atendiam a demandas de certos grupos de nossa sociedade que se ma nifestavam preocupados em especial com “a formação étnica da população”.
A situação europeia fazia com que um grupo cada vez mais numeroso de ju deus buscasse desesperadamente fugir daquele continente. As possibilidades de imigração ou mesmo refúgio temporário eram bastante restritas. A “Noite dos Cristais” e o início da II Guerra Mundial tornaram a situação ainda mais dra mática e a fuga ainda mais urgente.
Tratei de forma detalhada desse tema em alguns artigos e especialmente em dois livros. O presente artigo não permite maior detalhamento em razão de es paço. Mas possibilita o relato de um episódio relacionado a um fato trágico ocorrido em 1940 e hoje completamente esquecido, a tragédia do casal Egressi.
O tom acusatório geral publicado na imprensa até então não permitiu que a ação da polícia pudesse ser questionada, seja como envolvida no desembarque de refugiados, seja na morte, após provável tortura ou “queima de arquivo” do casal Egressi.
No dia 22 de fevereiro de 1940 chegaram a bordo do transatlântico italiano “Oceania” no porto do Rio de Janeiro três cidadãos austríacos: o casal Heinri a tra GÉ dia do casal eG ressi no r io de Janeiro em 1940
fábio koifman
Revista da Associação Religiosa Israelita- ARI | devarim | 57
ch e Wilma Grünfeld e o filho Hans. Portavam certidões católicas de batismo, mas todos os jornais da então Capi tal Federal referiram-se a eles como judeus.
Os Grünfeld possuíam vistos para a Bolívia, obtido na Europa por meio de propina. Mas aqui desembarcaram para algumas horas em terra antes do vapor seguir viagem. Não retornaram mais ao navio. As malas foram desembar cadas em nome de outra passageira. O esquema para per manecer no Brasil foi providenciado pelo marido de uma parenta que Wilma possuía na cidade, o húngaro Desidé rio Egressi, com quem o casal Grünfeld trocava cartas des de o início de 1939. Desidério Egressi tentara, mas não lo grara sucesso na obtenção de um visto temporário ou per manente para os Grünfeld. Orientou então os parentes a desembarcar durante a escala e posteriormente regularizar sua permanência, contando para isso com a possibilidade de corromper as autoridades responsáveis.
Desidério contava 62 anos e já estava estabelecido há alguns anos no Brasil. Primeiro foi representante de ins trumentos de ótica de uma fábrica suíça. Mais tarde, mon tou seu próprio negócio no mesmo ramo, descrito na Noi

te Ilustrada de 2 de abril de 1940 como “modesto”, uma pequena sala alugada no número 107 da Rua Sete de Se tembro, no Centro do Rio, onde funcionavam diversos es critórios comerciais. Sua esposa, Melanie Egressi, de solteira Freiberger, também de nacionalidade húngara, tinha 54 anos. O casal teve duas filhas. Leonora, já falecida, e Edda, que vivia naquele momento no México. Em julho de 1939, Melanie já tentara junto às autoridades brasilei ras trazer da Hungria o próprio irmão, Bela Freiberger, a cunhada, Juliska, e a sobrinha, Klara, mas teve a solicita ção indeferida.
Os Egressi haviam ido ao porto receber os parentes. A família Grünfeld foi então levada para um apartamento alu gado em Copacabana, na Rua Domingos Ferreira nº 187, próximos aos tios, que viviam na mesma rua, no nº 25.
Exatamente um mês depois da chegada, a família Grünfeld resolveu tentar regularizar a sua permanência. O que ocorreu ainda é obscuro. Mas a tentativa fez com que a Polícia Marítima os prendesse e os interrogasse apu rando a respeito de detalhes da entrada e permanência ir regular deles no Brasil.
Brasil2
58 | devarim | Revista da Associação Religiosa Israelita- ARI
/ iStockphoto.com
No dia 21 de março de 1940, apontados como responsáveis pelo desembar que ilegal dos Grünfeld, o casal Egressi foi preso. Foram levados à Rua Marechal Ancora, onde funcionava a Polícia Marí tima e não à Delegacia de Estrangeiros ou à Rua da Relação, onde funcionava a polí cia civil do Distrito Federal. O estranho e irregular procedimento da Polícia Maríti ma, que não tinha competência para efe tuar a prisão de antigos residentes regula rizados, não foi questionado na imprensa e tampouco no Inquérito Administrativo que foi aberto depois para apurar o caso.
Em um prédio sem carceragem ou acomodações próprias para detenção, os Egressi permaneceram detidos por pelo menos cinco dias, sendo nesse período submetidos a sucessivos interrogatórios, mas nada confessaram. De acordo com o relato da polícia, reproduzido no Diário de Notícias de 27 de março, “diante das provas eles se viram desmascarados, mas persistiram na negativa, afirmando sua inocência”, e ainda, “apesar de serem ouvidos constantemente nem um nem outro confessou as suas ilícitas atividades. A polícia, no en tanto, acreditava que ambos fizessem parte de uma quadri lha internacional de traficantes de clandestinos, e, por isso, procurava, por todos os modos, obter a sua confissão”.
Convém registrar que ao longo da investigação não só europeus cujos sobrenomes sugerem origem judaica foram identificados como sido beneficiados do esquema de corrupção relacionado à legalização de estrangeiros no País, mas também outros estrangeiros inclusive de origem portuguesa, cuja dificuldade em obter visto e situação regular no País naquele momento era nenhuma.
verem perdidos ante as provas, marido e mulher combinaram morrer juntos e pre pararam os laços em que deviam enforcar -se. Parece, porém, que o homem à últi ma hora se arrependeu já com o pescoço no laço e a mulher, enfurecida, lhe atirou qualquer objeto sobre a cabeça que o atingiu ferindo-o. E assim acabaram eles com a vida para não se verem nas malhas de um processo em que a Justiça se pronunciaria, dando-lhes sentença condenatória. Outra versão surgida no Diário de No tícias explicou que “sentindo-se culpado, o casal, sobre cujos ombros pesavam gra ves acusações, resolveu, temendo, talvez, ter que denunciar os seus cúmplices, fir mar um pacto de morte”. Buscando escla recer que “o suicídio veio provar que am bos faziam parte de um bando perigoso e que, por isso mesmo, temiam denunciar os seus companheiros”. Ao mesmo tempo em que mencionavam a existência de pro vas, a polícia por meio da imprensa dei xou claro que, além do envolvimento com o desembarque dos parentes relatado por eles mesmos, nada mais estavam encontrando. As provas da liderança ou participação dos Egressi no “bando perigoso” ou “quadrilha” jamais foram encontradas pelas autoridades.
O casal Egressi permaneceu enclausurado e sendo in terrogado em uma das salas do edifício da Polícia Maríti ma até a manhã do dia 26 de março. Segundo o relatório, às 6 horas da manhã foram encontrados mortos. Ambos enforcados. “Desidério estava morto, estendido ao longo da porta que dá para uma pequena arca onde estão o ba nheiro e a dependência sanitária, e Melanie suspensa do cinto de couro do marido que ela atara ao alto na bandei ra da porta. Desidério usara do mesmo processo utilizan do-se da torneira de uma bica”. O marido apresentava na cabeça um extenso e profundo ferimento. Algumas edi ções dos jornais publicados nos dias que se seguiram exi biram fotografias do casal, de suas filhas, assim como dos corpos enforcados.
A explicação para a morte do casal construída pela po lícia e reproduzida na imprensa da época foi a de que ao se
O jornal A Noite apurou que a mulher, “num gesto de profundo desespero com a covardia do marido, havia to mado o balde que se encontrava próximo e com ele desfe chado uma terrível pancada na cabeça de Desidério que, atordoado, deixou vergar as pernas sendo, nessa ocasião, enforcado”. Em seguida, Melanie teria se enforcado tam bém. Conforme registrou a imprensa: “De fato, o cadáver de Desidério apresenta uma forte contusão no crânio e o balde que foi enviado para o Gabinete de Pesquisas tinha vestígios de sangue nas bordas”. Outro jornal deu a entender que o ferimento na cabeça do morto teria se dado em decorrência da queda pelo fato de “nas vascas da morte, porém, desprendeu-se e caiu ao solo, morto”.
Uma nota importante, evidenciando preocupação por parte dos policiais responsáveis pelas apurações iniciais, foi a declaração um tanto precipitada da presunção – que se verificaria inverídica – publicada no Diário da Noite: “Ne
Revista da Associação Religiosa Israelita- ARI | devarim | 59
nhum Funcionário Envolvido. Segundo está apurado, não existe nenhum funcionário da Polícia Marítima envolvido no escandaloso caso. O casal Egressi agia sozinho nesta capital. Os seus cúmplices, ao que parece, desenvolveram atividades fora do Rio”.
Morto o casal, a polícia, por meio dos jornais, tratou de “esclarecer” ao público de quem supostamente se tra tava o casal Egressi, conforme, entre outros, registrou o Diário Carioca:
“Residia em Copacabana e levava vida faustosa (...) eram tidos como ricaços. Residindo em apartamento de luxo em ele gante palacete à Rua Domingues Ferreira nº 25, em Copaca bana, o casal de vida misteriosa possuía também luxuosa ‘limousine’. Constantemente eram vistos em passeio pelos lugares pitorescos da metrópole, dando a impressão, não só pelos seus hábitos como pela requintada indumentária, tratar-se de fi guras da mais alta esfera social”.

Imputou-se ao casal riqueza cuja origem seria a che fia de uma rede criminosa internacional que, de acordo com a manchete publicada em um dos jornais, “importa va judeus para a América do Sul”, pois, “apesar da rigoro
sa vigilância das nossas autoridades sobre a entrada de es trangeiros em nosso porto, alguns deles conseguem às ve zes burlá-la”.
A tese da agressão que teria sido cometida por Mela nie ao marido “acovardado” e do duplo suicídio foi reforçada pela imprensa – ou pelos censores do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) – nos dias subsequentes. A análise do balde encontrado com sangue e que teria pro duzido ferimentos na cabeça do morto levou a afirmações de que não resta mais dúvidas de que Desidério, aprazado o suicídio, fraquejou. Melanie foi quem amarrou os panos que foram encontrados envolvendo o pescoço do marido, mas ao que parece o homem não tinha coragem para dei xar cair o corpo a fim de que tudo se consumasse. Vendo-o naquela situação a mulher teria, então, num gesto de pro fundo desespero com a covardia do marido, tomado o bal de que se encontrava próximo e com ele desfechado uma terrível pancada na cabeça de Desidério (...)
Nos dias que se seguiram o assunto seguiu ocupando as páginas da imprensa carioca. As diligências dirigidas para as residências dos suspeitos de envolvimento com os Egres
Edu Leite
60 | devarim | Revista da Associação Religiosa Israelita- ARI
/ iStockphoto.com
si e informações do inquérito vazadas pela polícia forneciam material novo para as reportagens cujo conteúdo o DIP selecio nava ou não impedia a divulgação. O casal seguiu sendo associado ao que seria uma rede clandestina internacional de tráfico de imigrantes judeus para o Brasil. O tom acusatório geral publicado na imprensa até então não permitiu que a ação da po lícia pudesse ser questionada, seja como envolvida no desembarque de refugiados, seja na morte, após provável tortura ou “queima de arquivo” do casal Egressi.
Ao longo das semanas seguintes, vá rias pessoas foram presas acusadas de serem participantes da “quadrilha de trafi cantes de clandestinos”. Boa parte delas em São Paulo. Os jornais também publi caram o que seria uma tabela de preços pelos serviços de permanência e regulari zação junto às autoridades brasileiras. O que evidenciava a participação de funcionários públicos e aí temos, possi velmente, a explicação da prisão no prédio da Polícia Ma rítima (e não na Polícia Central) do casal Egressi e, talvez, da violência de seu interrogatório senão a própria razão de seu óbito. Um trecho da longa matéria é clara quanto à participação de funcionários públicos, uma vez que a in vestigação “apurou a cumplicidade de grande número de funcionários de várias repartições do serviço de registro de estrangeiros, onde eram praticadas graves irregularidades. Há ainda muita gente de outras repartições oficiais impli cadas no caso. Rigoroso inquérito policial-administrativo foi aberto a respeito”.
Não sabemos se a morte do casal se deu de modo não intencional, em razão da violência do interrogatório e, posteriormente, os envolvidos decidiram por produzir a versão do suicídio ou o casal foi propositalmente assassinado com o fim de afastar riscos de punição para as autoridades envolvidas, a chamada “queima de arquivo”.
permaneceu vivo em estado “gravíssimo”. Jonas havia sido preso em São Paulo e te ria tentado se matar por estar “envolvido no caso dos imigrantes clandestinos”, sen do ele um “dos implicados nas atividades da quadrilha de traficantes”. Jonas sobre viveu depois de meses internado em um hospital e faleceu em 1975 em São Paulo.
Poucos dias depois, a imprensa no ticiava a expulsão dos Grünfeld. A saga da família Grünfeld, também repleta de sofrimento, será tratada em outro artigo oportunamente.
O inquérito policial relacionado ao caso Egressi foi concluído e o Chefe de Polícia do Distrito Federal (Filinto Strü bing Müller) remeteu ao Departamen to Administrativo do Serviço Público (Daps) três volumes relativos à sindicân cia “em torno de irregularidades verifica das na entrada e permanência de estrangeiros no território nacional”. O delegado que conduziu o inquérito che gou à conclusão de que “pesam acusações graves aos fun cionários públicos federais, do Estado de São Paulo e da Prefeitura do Distrito Federal”. Atendendo à gravidade das acusações, o governo decidiu pela “imediata instau ração de rigoroso processo administrativo, para a apura ção dos fatos indicados e da responsabilidade dos que ne les estão envolvidos”.
No dia 23 de abril de 1940 a imprensa voltou a noticiar um novo episódio de violência – uma vez mais explicado como suicídio – praticado na Polícia Central da capital na tarde do dia anterior. O A Batalha assim relatou: “Preso, tentou suicidar-se. Uma ocorrência na Polícia Central. Foi internado no Hospital de Pronto Socorro, depois de socor rido pela assistência, o alemão Leopoldo Jonas, de 37 anos, casado, comerciário em São Paulo, que se encontra preso na Polícia Central. Jonas jogou-se da varanda da 2ª dele gacia auxiliar ao passeio sofrendo fratura da bacia e contusões pelo corpo”. Os demais jornais divulgaram a mes ma versão de suicídio. Vendedor de doces em São Paulo,
No fim de 1940 a Comissão de Inquérito preparou o seu longo relatório. Dezenove funcionários públicos de diferentes subordinações (diferentes ministérios e autar quias federais, como também estaduais) foram citados para “apresentar defesa”, ou seja, foram formalmente indicia dos. A Comissão considerou que diversos agentes e inspetores da polícia marítima eram responsáveis diretos pelo desembarque clandestino dos Grünfeld, propondo puni ções como suspensões e até demissões do serviço público. Concluíram que um certo Manfredo Krüger seria chefe de uma organização que conseguia por meio da ação de in termediários e do suborno das autoridades brasileiras ou pela obtenção de documentos que permitissem a regulari zação conforme as exigências. Krüger, que residia em São Paulo, tornou-se um especialista em regularizar a perma nência de estrangeiros de modo ilegal, mas também legal.
Revista da Associação Religiosa Israelita- ARI | devarim | 61
No início de 1941 o ditador Vargas determinou a aprovação do relatório, o que significou a aplicação das punições e demissões que incluíram delegados de polícia.
Convém registrar que ao longo da investigação não só europeus cujos sobrenomes sugerem origem judaica foram identificados como sido beneficiados do esquema de cor rupção relacionado à legalização de estrangeiros no País, mas também outros estrangeiros inclusive de origem por tuguesa, cuja dificuldade em obter visto e situação regular no País naquele momento era nenhuma.
A Comissão de Inquérito, centrada no envolvimento de funcionários públicos “em torno de irregularidades ve rificadas na entrada e permanência de estrangeiros no ter ritório nacional” claramente chegou à conclusão que, de São Paulo, Manfredo Krüger e um bom número de funcionários públicos – incluindo delegados e agentes – esta beleceram um sistema especialmente de regularização de permanência de estrangeiros, na maioria das vezes, even tualmente atuando também no auxílio ao desembarque.
Os poucos estrangeiros citados – a totalidade deles clientes de Krüger – era composta de europeus que pro curaram ajuda a fim de legalizar a permanência no Brasil. Tanto as atividades ilícitas identificadas pelas investigações policiais – que se mostraram bastante zelosos ou corpora tivistas não acusando colegas policiais – como o apurado pela Comissão de Inquérito expôs tanto no Rio de Janei ro como em São Paulo, maiores cidades do País, um nú mero significativo de funcionários em postos estratégicos e de importância que praticavam extorsão ou se deixavam corromper, vendendo facilidades a gente interessada em residir no Brasil.
Os autos indicam que o envolvimento do casal Egres si limitou-se, até onde se pôde apurar, tão somente ao in teresse deles em auxiliar parentes de Melanie – refugiados do nazismo – a entrar e permanecer no Brasil. Não eram chefes de nenhuma rede de tráfico humano, não viviam da exploração desse tipo de negócio. O contato que tiveram com o grupo de São Paulo relacionava-se, ao que tudo in dica, tão somente ao auxílio na vinda da família Grünfeld para viver próximo a eles. Muito diferente da versão apre sentada pela imprensa, ao casal não foi imputado crime grave e o processo que enfrentariam por seus atos não en volviam delitos realmente significativos que produziriam punições rigorosas por parte do Estado, além de respon derem criminalmente por seus atos.
Considerando a quantidade de funcionários públicos punidos e, especialmente, demitidos ao fim do Inquéri to e a relevância de seus postos, o casal Egressi representa va não exatamente a cabeça ou a liderança de uma rede de entrada de clandestinos, mas na qualidade de clientes dos serviços desse grupo e de funcionários públicos corrup tos, o muito comprometedor potencial fio da meada que poderia expor todos os envolvidos na prática ilegal. Não por acaso, a prisão e o rigoroso “interrogatório” – um eu femismo para a palavra tortura – do casal ocorreu no prédio da Polícia Marítima. Não sabemos se a morte do casal se deu de modo não intencional, em razão da violência do interrogatório e, posteriormente, os envolvidos decidiram por produzir a versão do suicídio ou o casal foi proposital mente assassinado com o fim de afastar riscos de punição para as autoridades envolvidas, a chamada “queima de ar quivo”. Evidenciou-se improvável a hipótese de suicídio.
O que a Comissão de Inquérito reforçou em termos de evidência, considerando especialmente todos os aspectos pouco factíveis, em especial a cabeça muito ferida de De sidério explicada como produto da violência da própria esposa, foi que seria bastante improvável um casal tomar uma decisão tão drástica como dar fim à própria vida tão somente pelo fato de ter se envolvido no desembarque irregular de parentes seus.
Quanto ao outro apontado como provável “suicida”, Leopoldo Jonas, sequer foi citado pela Comissão. O que indica que muito provavelmente não estava envolvido em qualquer prática delituosa e tampouco havia entrado de maneira ilegal no País – como acusou a imprensa, instruí da pela polícia –, pois os estrangeiros nessa situação foram nominalmente citados nos autos. A conhecida brutalidade da polícia do Distrito Federal buscando obter informações e uma confissão possivelmente fizeram com que Jonas, em desespero, tentasse fuga pela janela. Ou, então, os investigadores empreenderam algum tipo de tortura que aca bou por produzir sua queda. Não seria a primeira vez que um suspeito cairia da janela do prédio da Rua da Relação.
Fábio Koifman é professor de História da UFRJ. O presente texto é uma versão reduzida do artigo “Polícia Marítima, Refugiados e ‘Sui cidas’: A política imigratória nos tempos de Vargas”, publicado em co autoria com Karla G. Carloni no livro organizado pela Profª He lena Lewin, Judaísmo e Cultura: Fronteiras em Movimento. Rio de Janeiro: Editora Imprimatur, 2013, v. 1, p. 632 650.
62 | devarim | Revista da Associação Religiosa Israelita- ARI
i srael: e stado J udaico e democrático
p aulo Geiger
1. Conceito: o que é, ou deveria ser
Ogoverno de Israel quer saber, e está perguntando, qual é a opinião do judaísmo mundial sobre uma questão crucial para a concepção, o modelo e o futuro do país em relação a si mesmo como Estado, em relação à sua socie dade (em todos os seus cortes), ao ju daísmo mundial e ao mundo em geral. A questão se resume em quatro palavras que formam ao mesmo tempo uma afir mação e uma pergunta: Estado judeu e democrático. Ou, na leitura de muitos: Estado judeu e democrático? (ou seja: isso é possível? Como?)

A ideia, o conceito, a questão, a afir mação não têm nada de novo. Se alguém se deu o trabalho de ler a primeira des crição programática do ideal do sionismo moderno, O Estado Judeu, de Theodor Herzl, vai achar lá os fundamentos da vi são do sionismo moderno: um Estado do e para o povo judeu calcado nos modelos de Estado que os líderes sionistas da Eu ropa Ocidental conheciam, ou propugna vam: Estados nacionais e democráticos.
Verdade que esses modelos e ideais eram de uma Europa, um mundo, um tem po imediatamente posterior à Emancipa ção e aos conceitos de direitos humanos e direitos dos povos e anterior à Revolu ção Soviética, a duas guerras mundiais, ao nazismo e ao Holocausto, que redese nharam a Europa, o povo judeu, o Oriente Médio e o mundo. Mas esse modelo re sistiu, é a referência para o mundo con temporâneo globalizado, e é o que preva lece hoje, como realidade ou como rótulo.
Assim, a ideia de um Estado nacio nal E democrático é hoje lugar comum, é a regra que faz sobressaírem as exce ções (regimes totalitários, de várias cores ideológicas e até religiosas, que resulta ram [ou não] em tragédias nacionais ou mundiais), exceções que ainda grassam no mundo contemporâneo. Mas o Estado nacional e democrático é o modelo oni presente no mundo, e foi ele que inspi rou os edificadores do sionismo moder no e os judeus idealistas que dedicaram suas vidas ao ‘sionismo realizador’, cons truindo num quase deserto as bases de um país e de uma sociedade, inspirados na visão nacional política de Herzl – um
Estado moderno, Estado nação de um povo (como direito político, e não mais só uma aspiração religiosa, mística, esca tológica) e ao mesmo tempo o Estado de todos os seus cidadãos (como todo Es tado moderno democrático) – e na visão social dos profetas e dos pioneiros cha lutzim, de uma sociedade equânime e jus ta. Apesar de se ter criado na voragem de um conflito que já dura um século, e de todas as suas consequências, nada pre cisaria impedir esse Estado em embrião de ser nacional E democrático, como de cidiu ser e promulgou em sua Declaração de Independência; nada precisa impedir o Estado judaico de sê lo ainda hoje.
Alengo /
Revista da Associação Religiosa Israelita- ARI | devarim | 63 cócegas no raciocínio
iStockphoto.com
cócegas no raciocínio
(Continuação)
Então, por que se levanta a ques tão? Se o Brasil pode ser brasileiro (do povo brasileiro) e democrático, se a Fran ça pode ser francesa (do povo francês) e democrática, por que (supostamente) não pode Israel ser judaico (do povo ju deu) e democrático, e, segundo alguns, nunca poderia ser, tendo de escolher en tre um e outro?
A aparente contradição conceitual (este artigo só vai tratar do ‘conceito’, a questão da prática será abordada na sequência) entre ‘judaico’ e ‘democráti co’ decorre de vários erros de interpre tação de conceitos e de fatos. O primei ro é atribuir ao ‘judaico’, no caso, o sen tido de ‘religião judaica’. A origem desse erro é simples, os desavisados o come tem, mas muitos avisados o exploram in tencionalmente: o único povo no mundo que adota uma única religião é o povo judeu, daí essa religião ser chamada de ‘judaísmo’. Poderia ser ‘mosaísmo’, e se assim fosse o termo ‘Estado judaico’ (do povo judeu) não seria sinônimo de ‘Es tado mosaico’, e nenhuma confusão ou pretexto daí adviria.
O que o sionismo moderno criou (leiam o livro de Herzl!) foi exatamente a ideia de um Estado judaico (Estado na ção do povo judeu) nos moldes dos Es tados nação modernos, onde ‘judaico’ é análogo a ‘brasileiro’ (e o termo ‘brasilei ro’ não tem a ver com ‘cristão’ ou outro adjetivo relativo a uma religião praticada no Brasil, seja esmagadoramente majo ritária ou não). ‘Iraniano’ não é a mesma coisa que ‘islâmico’, apesar de, nas cir cunstâncias atuais, esse Estado se reger pela shariá. Ou seja, a condição de Es tado judaico (Estado nação do povo ju deu) de Israel não contradiz conceitual mente que ele seja um Estado com liber dade total de culto para todas as religiões (como efetivamente é, e ninguém pode negar isso), como consta na cartilha dos Estados nacionais e democráticos.
Mas para que isso se confirme não só como conceito, mas também como mo delo de futuro, é preciso que a sociedade israelense reveja seriamente os proces sos de radicalização por que tem passa do recentemente, inclusive dentro do pró prio judaísmo. A não contradição concei tual pode se transformar em contradição real neste processo de radicalização. A democracia de um Estado judaico – no qual a religião e as formas de culto de vem ser escolhas pessoais de cada cida dão – está na visão fundamental do sio nismo, mas em preocupante processo de radicalização, em parte religioso, em par te ideológico.
Outra confusão desavisada ou inten cional é a ideia de que a condição de Es tado nação do povo judeu (Estado ju daico) transforma Israel automaticamen te em Estado não democrático em rela ção a suas minorias (para não mencionar termos como ‘de apartheid’, ‘opressor’ etc.). Israel não é o único Estado nação que conta com minorias nacionais em sua sociedade. Mas nem todos garantem –como faz Israel – a suas minorias todos os direitos de cidadania que cabem aos cidadãos de um Estado democrático. O que acontece é que a difícil questão de ‘como ser ao mesmo tempo um Estado do povo judeu e um Estado de seus cida dãos’ é agravada pelo conflito com Esta dos, povos e movimentos religiosos (islâ micos) que se opuseram, e muitos ainda se opõem, à existência do único Estado nação do povo judeu no único lugar do mundo em que pode existir. O Estado de conflito tem contaminado a percepção de ameaça existencial que esses opositores representam para a sociedade judaica e o caráter judaico (o ‘judaico’ nacional, não o religioso) do Estado. Como se uma minoria nacional ou religiosa não pudesse conviver em paz e com todos os direitos de cidadania garantidos, como acontece em todo o mundo, num Estado nacional
(de outro povo) e democrático (como são quase todos no mundo).
Resumindo: nada, nem na visão sionis ta moderna de um Estado nacional judai co e democrático, o Estado do povo ju deu e de todos os seus cidadãos, nem a possibilidade conceitual de realizar essa visão, justificam a opção excludente de OU judaico OU democrático. O Estado de Israel foi pensado como, e deve enca rar seu futuro, como um Estado judaico E democrático.
No entanto, esse futuro será determi nado pelo caminho a ser seguido hoje, e os mesmos processos de radicaliza ção na questão religiosa começam a se agravar na área ideológica e política. De mocracia não se expressa apenas no di reito que a maioria outorga a seus re presentantes, mas também aos direitos das minorias. A verdadeira pergunta a ser feita não é SE Israel pode ser judai co e democrático, mas sim O QUE fazer e COMO fazer para que o seja. A res posta não passa por um radicalismo que transforma todo judeu que não seja cha redi ou ortodoxo não só num ‘não judeu’, mas até mesmo numa ameaça ao juda ísmo ainda pior do que a dos aiatolás; não passa pela ideia de que as frontei ras de um Israel judaico e democrático devem abranger milhões de palestinos (isso sim resultaria num Israel antide mocrático se uma eventual minoria judai ca se impusesse a uma eventual maioria palestina, ou não judaica, se uma even tual maioria palestina desse futuro ‘gran de Israel’ se impusesse como tal). Pelo futuro judaico e democrático de Israel, a hora de decisão é agora. Ela incorre em risco, mas para os riscos da segurança existencial do Estado e de sua socieda de Israel dispõe de poderosas armas de defesa. Do risco da perda de sua pró pria identidade, a de um Estado judaico e democrático, só as decisões corretas podem defendê lo.
64 | devarim | Revista da Associação Religiosa Israelita- ARI





66 | devarim | Revista da Associação Religiosa Israelita- ARI
