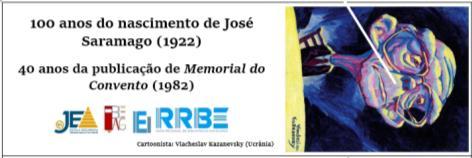Angra do Heroísmo, novembro de 2022




FICHA TÉCNICA
Título: 40 anos da publicação de Memorial do Convento (1982), 100 anos do nascimento de José Saramago (1922)
Texto introdutório: Carlos Mesquita Severino (CEC-FLUL), Lucília Soares e Paula Brasil.
Capa e contracapa: adaptação do cartaz elaborado pelos alunos Ana Sofia Macedo, Catarina Mendes e Luís Castro, 12.º F.
Formatação e edição: Carlos Mesquita Severino (CEC-FLUL)
Data: novembro de 2022 Versão digital
Nótula inicial
O estudo de José Saramago no ensino secundário é atualmente um maior desafio do que há uns anos, pois a leitura de texto literário tem vindo a captar menos leitores, face às solicitações dos media e à diminuição da concentração, por exemplo.
Todavia, é de forma orgulhosa que tivemos alunos que leram Memorial do Convento com gosto e alegria, embrenhados numa história de um amor singular, tomando partido contra um rei megalómano em favor do povo, mergulhando numa sociedade fanaticamente religiosa e fascinados pela inovação da passarola.
Na verdade, conseguir ler o texto é mergulhar dentro dele e, por isso, manipulá-lo de modo pessoal. Daí que, nesta recolha de trabalhos escritos e criativos dos alunos de 12.º ano (2021/2022), encontremos páginas dos diários da rainha D. Maria Ana de Áustria, de Baltasar e até de “José Saramago”. Assistimos, ainda, a entrevistas ao rei D. João V, ao frei António de São José ou ao casal Blimunda e Baltasar, e, simultaneamente, podemos ler as diversas reflexões que o texto de José Saramago proporcionou aos alunos.
Apesar de o autor não ter numerado os “capítulos” de Memorial do Convento, quando o publicou em 1982, é usual fazermos essa divisão, a fim de facilitar a leitura, o estudo, as referências feitas em aula. Como tal, os números em parênteses retos, no início de cada bloco, referem-se a essas sequências narrativas e permitiramnos organizar a apresentação dos trabalhos. Por outro lado, optámos por encetar cada um deles com uma citação do início de cada “capítulo”, a fim de relembrar ao leitor o momento em que
nos encontramos. Deste modo, em alguns casos, a citação é apenas a primeira frase, noutros, é mais extensa.
Como alguns dos trabalhos foram feitos por meio de aplicações e programas em linha, não é possível incluí-los nesta publicação. Todavia, surgem referidos nos respetivos capítulos e, quando possível, com a hiperligação assinalada. No caso das apresentações mais extensas, foi feita uma seleção dos diapositivos.
Como queríamos que os vídeos e gravações áudio (análises dos capítulos, podcast, etc.) ficassem disponíveis para todos, procurámos montar vídeos que reunissem todas essas prestações, nas quais incluímos ainda as apresentações completas e que disponibilizamos na página de YouTube da Biblioteca Escolar Almeida Garrett (BEAG).
Os trabalhos de alunos dos 12.º A, B e G foram apresentados ao professor Carlos Mesquita Severino, os dos 12.º C, D e E são de alunos da professora Lucília Soares e os trabalhos dos 12.º F e H, são de alunos da professora Paula Brasil.
Finalmente, fecha esta publicação um Apêndice, do qual constam os trabalhos elaborados pelos formandos da Turma de Técnico de Artes Gráficas, no início deste ano letivo, a fim de divulgaram a exposição junto da comunidade escolar por meio de cartazes e de lembranças a oferecer aos autores dos trabalhos e aos visitantes da exposição.
Resta-nos, ainda, agradecer ao Comissário para o Centenário de José Saramago, Professor Doutor Carlos Reis, que nos autorizou o uso do logótipo das celebrações, ao qual acrescentámos o da Fundação José Saramago.
Professores Carlos M. Severino, Lucília Soares e Paula Brasil Departamento de Português e Línguas Clássicas da Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade de Angra do Heroísmo
Figura 1. Cartaz comemorativo elaborado por Ana Sofia Macedo, Catarina Mendes e Luís Castro, 12.º F.


D. João, quinto do nome na tabela real, irá esta noite ao quarto de sua mulher, D. Maria Ana Josefa, que chegou há mais de dois anos da Áustria para dar infantes à coroa portuguesa e até hoje ainda não emprenhou.


D. João V
Perante a promessa real, D. João V fica entusiasmado: Irá ser pai, afinal, E o convento será levantado.
A megalomania do Rei Revela-se na sua grandeza E a construção do convento É sinal da sua riqueza.
A rainha não é portuguesa E nem consegue engravidar; Não será culpa do Rei, Que bastardos tem sem faltar!


Artur Cardoso, 12.º G

Bem servido de milagres, igualmente.
A religião em Memorial do Convento
À célebre ordem franciscana se devem alguns milagres, como os relatados por José Saramago, em Memorial do Convento, no segundo capítulo: a morte de Frei Miguel da Anunciação; a locomoção da imagem de Santo António, numa janela, que assustou os ladrões; a recuperação das lâmpadas furtadas no Convento de São Francisco de Xabregas; e, caso a rainha D. Maria Ana Josefa emprenhasse, tal acontecimento se deveria à ordem franciscana.
Ao longo deste capítulo, Saramago refere-se ao clero com ironia e transparecendo uma certa descrença nestes milagres associados ao mesmo, que possuem “dons sobrenaturais”, o que remete para a crítica ao fanatismo religioso feita pelo narrador.
O fanatismo religioso é uma crença exagerada, caracterizada pela adesão cega a uma doutrina ou uma ideologia. O fanatismo e a sua manifestação autoritária opõem-se à tolerância, ou seja, à aceitação daquilo que não se quer e à disposição para ouvir ideias, opiniões ou atitudes diferentes.
Como é sabido, o Memorial do Convento evoca assuntos contemporâneos a partir do passado, nomeadamente durante o reinado de D. João V e, deste modo, o fanatismo religioso ou ideológico enquadrase perfeitamente na realidade atual. Esta obstinação por algo ou alguém tem conduzido a humanidade a uma polarização de opiniões cada vez maior, promovida pelas redes sociais e meios de difusão de informação tradicionais (televisão, rádio, imprensa).
As redes sociais têm proporcionado à sociedade inúmeras regalias, por exemplo, facilitam a criação de espaços para negócios e de empregos, criando uma nova dinâmica no trabalho; permitem a comunicação instantânea entre pessoas e promovem a difusão de ideias e opiniões. Esta última regalia pode ser convertida em desvantagem quando a
liberdade de expressão é posta em causa por proliferação de ataques, cyberbullying e cultura de cancelamento. A liberdade de expressão, principalmente nas redes sociais, é atualmente vista como a garantia de expressão desmedida, desprovida de compreensão pelo outro e aceitação de divergências.

Desta forma, a referência ao longo do capítulo 2 do Memorial do Convento ao fanatismo religioso, característico da sociedade da época, ajusta-se aos problemas com que os indivíduos têm de lidar nos dias de hoje, particularmente a intolerância e a normalização de radicalismos, sustentados pelo crescente medo de exclusão social.
Daniela Pires, 12.º GEntrevista a sua Majestade, El-Rei D. João V, e ao Frei António de S. José, da ordem de São Francisco, por um digníssimo Jornalista do jornal Gazeta de Mafra.
O Rei D. João V, Frei António, padre franciscano, e respetiva comitiva real vieram hoje a Mafra escolher o melhor lugar para construir um Convento, se Deus operar o milagre da rainha emprenhar um herdeiro
ao trono. Aproveitámos a oportunidade e convidamo-los a vir ao nosso espaço, aqui no Jornal Gazeta de Mafra.
Entrevistador: Boa tarde, Sua Majestade e Frei António, obrigada pela vossa presença. Começo por sua Majestade, Rei D. João V, que tanto nos agracia com a sua presença. Sua Majestade, pode-nos esclarecer sobre a sua vinda aqui?
Rei D. João V: Claro que sim, com todo o prazer presto esclarecimento aos meus súbditos que, certamente, gostarão de ver o representante de Deus aqui na terra por estas paragens. Bom, como sabeis, todo o reino sabe, eu e a minha Maria, a Rainha D. Maria Ana Josefa, bendito seja o fruto do seu ventre, vaso de receber, há dois anos que tentámos dar um herdeiro à coroa. Eu, aguentando o cobertor de penas sufocante que a minha rainha trouxe da Áustria e o qual não larga, seja verão ou inverno, recozendo cheiros e secreções, um horror! Ela, por sua vez, rezando novenas e se sacrificando a uma imobilidade total.
Entrevistador: Cof, Cof! Vossa Majestade, não precisa de nos esclarecer com tantos pormenores...
Rei D. João V: Mas com tudo isto, ainda não respondi à sua pergunta. No último dia, estando a caminhar em direção ao quarto de minha mulher, D. Nuno da Cunha, Bispo inquisidor, interpelou-me apontando para Frei António de S. José, um velho franciscano, o mais virtuoso da sua ordem, que, solidário com a minha tristeza, encomendou a Deus um milagre que me daria sucessão, se prometesse levantar um convento na vila de Mafra. Mais acrescentou que teria de ser franciscano. E assim foi, prometi que o faria e com criativo esforço cumpri o meu dever e, sabendo dos milagres que advêm dos franciscanos, julgo que o choco dará fruto desta vez. E sem mais delongas e com muita fé e esperança, achámos melhor escolher o lugar. Mas quanto à santidade da ordem franciscana, Frei José poderlhe-á contar a fama que precede a mesma ordem.
Entrevistador: Muito obrigado, sua alteza real. ***
Entrevistador: Seja bem-vindo, Frei António de S. José. Obrigado pela sua presença.
Frei António: Ora essa, é com muito gosto.
Entrevistador: Diz-se que Frei António foi o grande preconizador da promessa de se fazer um Convento aqui em Mafra, garantindo que Deus faria a sua parte. Que argumentos usou para que tamanho empreendimento venha, efetivamente, a ser posto em prática?
Frei António: Ora bem, já há muito, isto é, séculos... desde 1624, desde um Filipe espanhol que a ordem Franciscana deseja um convento aqui em Mafra, mas sempre sem consentimento… Viu sempre os seus intentos materiais e espirituais logrados... mas Deus é grande e opera milagres, só com franciscanos, claro.
Entrevistador: Mas o que quer dizer com isso?
Frei António: Não conhece os milagres, veros e certificados milagres!? Pois a conceção da Rainha será vista como mais um dos milagres tradicionalmente ligados à ordem de São Francisco!
Entrevistador: Lamento, mas não. Então que milagres são esses, prezado Frei António?
Frei António: Depois do que lhe vou narrar, vai certamente compreender o porquê de acreditarmos que o abençoado choco da rainha dará um herdeiro ao reino e aos franciscanos um rico pardieiro, mas que rico pardieiro, se bem me entende...
Entrevistador: Sim, sim, mais ou menos.... Continue, por favor.
Frei António: Começo por relatar três acontecimentos que auguram da promessa do rei. O célebre caso de frei Miguel da Anunciação, da ordem terceira de S. Francisco, mesmo depois de morto, conservara o seu corpo intacto atraindo uma grande quantidade de devotos para a sua igreja: vista a cegos e pés a mancos!
Entrevistador: Deveras surpreendente!
Frei António: Mas não fica por aqui, caríssimo amigo. Um outro milagre, em Guimarães, é o da imagem de Santo António que se locomovera até à janela, impedindo ladrões de entrar. O susto foi tal que um deles caiu no chão, tolhidinho de todo que não se pôde mexer mais, nem os colegas o conseguiram tirar de lá, mas depois recuperou, graças ao santo do altar, são, salvo e arrependido.
Entrevistador: Mas seria mesmo obra de Santo António?
Frei António: Falta o melhor! O furto das três lâmpadas do altar-mor do Convento de S. Francisco de Xabregas, no qual entraram três gatunos pela claraboia e roubaram três lâmpadas, mas nada roubaram da Capela de Santo António, tão rica em prata! Um dos padres castigou o santo, por não proteger senão o seu canto, retirando as pratas da capela e ao próprio a cruz, a auréola e o próprio menino do colo. Pois no dia seguinte, apareceu um jovem estudante à porta, que já há muito desejava o hábito de padre, que revelou estarem as lâmpadas no Mosteiro da Cotovia, dos padres da Companhia de Jesus. E assim voltaram as lâmpadas ao seu lugar, e o responsável nunca foi encontrado, pelo menos não havia provas, mas o milagre aconteceu!
Entrevistador: De facto, muito interessantes os seus relatos que tão bem validam a possibilidade de um milagre! Pois que ninguém diga, como falam as más-línguas, que não houve segredos de confissão divulgados, nem a rainha se calou para aparecer com a promessa tão virtuoso frei António. Haja herdeiro! Muito obrigado, sua Alteza Real e frei António de S. José pelo vosso testemunho e esclarecimento. Rei e Frei: Nós é que agradecemos.
Rodrigo Sampaio e Tomás Ferreira, 12.º A (com a colaboração de Henrique Vaz)

[03]
No geral do ano há quem morra por muito ter comido durante a vida toda, razão por que se repetem os acidentes apopléticos, primeiro, segundo, terceiro, e às vezes um basta para levar à cova, e se o acidentado provisoriamente escapou, fica leso de um lado, de boca à banda, sem voz se o lado foi esse, e também sem remédios que lhe acudam, tirando as sangrias, que se receitam às meias dúzias.
O capítulo III localiza-se em Lisboa, no final do Entrudo e início da Quaresma. Ao longo deste, são abordados diversos temas como, por exemplo, uma reflexão sobre Lisboa, mais especificamente, sobre a vida dissoluta naquela cidade, durante a época festiva. Faz-se uma crítica aos hábitos religiosos; refere-se o que acontece durante a procissão de penitência (em que há um excesso de dramatismo da parte de quem vai supostamente expurgar os seus pecados); aborda-se a infidelidade das mulheres e dá-se a conhecer o sonho da rainha D. Maria Ana com D. Francisco, o seu cunhado.
Logo no início do capítulo, temos uma descrição dos costumes no Entrudo, onde é referido o contraste entre o exagero de riqueza de uns e a extrema pobreza de outros.
Contatamos com várias referências ao estado de imundice em que se encontrava Lisboa naquela época, devido ao desinteresse do rei pelo povo, enfatizando-se que aquele só se preocupava com o seu poder.
A Quaresma era a única altura em que as mulheres podiam percorrer as igrejas sozinhas, gozando a liberdade de se encontrarem com os seus amantes. Por ser rainha e estar grávida, a rainha não podia usufruir de tal liberdade. Depois de rezar, acompanhada pelas suas damas, D. Maria Ana adormece e é durante este sono que esta sonha com o seu cunhado, D. Francisco, por quem se acha apaixonada. Passada a Quaresma, todas as mulheres voltam à sua rotina habitual, fechadas em casa.
No capítulo III, aparece-nos o número 7, que é um número simbólico. É símbolo de sabedoria. É o descanso no fim da criação; a totalidade perfeita; o número de dias do ciclo lunar, que regula os ciclos de vida e de morte. São 7 as cores do arco-íris e 7 os pecados mortais. Estará, aqui, associado ao completar de um ciclo de dissolução e subsequente purga do pecado.


Também o cobertor possui um valor simbólico: simboliza o afastamento que marca o casamento de convivência entre o rei e a rainha. Liga-se à frieza no amor, à ausência de prazer, e esconde desejos insatisfeitos, por parte da rainha.
Beatriz Almeida e Gabriel Silveira, 12.º E
Figura 8. Seleção de diapositivos da apresentação elaborada
12.º E.






Carnaval em Memorial
O quadro de Pieter Bruegel, o Velho, O combate entre o Carnaval e a Quaresma (1559), é uma representação do Carnaval na idade média, celebração que era conhecida como a “Festa dos Loucos”. Era uma celebração tipicamente profana, na qual era permitido o consumo de bebidas alcoólicas, danças e músicas em excesso, daí o mesmo ter sido atribuído esse nome. Esta festividade é mencionada no capítulo III do Memorial de Convento, de José Saramago, como Entrudo e o autor descreve a folia e exageros do mesmo: “Correu o Entrudo essas ruas […] bebeu-se vinho até ao arroto e ao vómito, partiram-se panelas, tocaramse gaitas […]”.
Em primeiro lugar, escolhi este quadro para representar o capítulo, visto que o Carnaval é uma festividade que ainda toma lugar nos dias de hoje e continua a carregar o exagero que possuía antigamente, porém, de forma mais cívica. Continua a ser um “tempo mágico”, em que por breves momentos podemos esquecer momentos difíceis e celebrar os mais bonitos e este quadro representa bem esse sentimento que Saramago tenta transmitir com a sua escrita.
Em segundo lugar, este quadro é bonito e diversificado e a utilização de cores quentes (cores mais vivas, tons avermelhados) também contribui para um sentimento de Carnaval e de emoções mais “fortes” ou mais “exageradas”, que representam bem o mesmo, tendo em conta que é uma altura de abusar.

Em terceiro lugar, as pessoas presentes no quadro apresentam roupas variadas, o que significa as classes variadas, o que, a meu ver, mostra que o Entrudo era uma festividade em que as classes sociais não importavam, algo que não era comum antigamente, uma vez que o estatuto social era tudo. Isto é observado no quadro no canto inferior direito, na qual está representado um homem que aparenta ser nobre (casaco preto, chapéu preto, acompanhado do que parece ser um criado, acabando por mostrar que tem riqueza), mas, mesmo assim, está em contacto com pessoas de classes inferiores, isto é, o povo, denunciado pelas roupas velhas e pelos pedintes.
Concluindo, este quadro consegue mostrar-nos como era vivido o Carnaval, seja pelas pessoas representadas, cores, roupas, ações a serem realizadas, por exemplo, o comer em excesso também representado no quadro, etc. A pintura acaba por ser uma boa representação do capítulo III e dos excessos vividos nessa altura específica.
Lara Goulart, 12.º G

Figura 10. Ilustração dos símbolos eucarísticos, feita por Lara Goulart, 12.ºG.

Figura 11. Diapositivos da apresentação elaborada por Beatriz Costa e Marta Branco, 12.º H (para ver a apresentação do trabalho, clique na imagem).




Figura 12. Carta de D. Maria Ana a D. Francisco, feita por Jéssica Silva e HugoToste, 12.º A.

Este que por desafrontada aparência, sacudir da espada e desparelhadas vestes, ainda que descalço, parece soldado, é Baltasar Mateus, o Sete-Sóis.

Minha vida após o incidente
Após a perda da minha mão esquerda, a minha vida mudou completamente. Deixei de me sentir útil, pois já nem para a guerra sou preciso, ainda mais numa batalha que se decidiria quem ficava com Espanha. Depois de ter sido expulso, vime obrigado a ir pedir esmolas em Évora para comprar aquilo que poderia ser a minha salvação, um gancho ou um espigão, ou algo que não deixasse o meu braço esquerdo sem utilidade.
Depois de angariar dinheiro suficiente para comprar um espigão, decidi ir para Lisboa e pelo caminho fui assaltado por dois sujeitos. Estava eu a caminho de Montemor, passaria por Pegões, quando foi abordado por dois homens que me tentaram assaltar e me agrediram… mas como já tinha o meu espigão na mão esquerda, defendi-me e acabei com um dos dois

assaltantes. O que sobreviveu fugiu de medo... Após a morte do assaltante, arrastei-o com o mesmo espigão que o matei e não sei se já foi encontrado… Quando cheguei a Lisboa, fiquei na dúvida se iria a Mafra visitar meus pais ou não. Por isso, vagueei pelas ruas da capital e conheci João Elvas, que também foi soldado como eu. Passamos a noite a contar histórias da guerra e os vários tipos de mortes que já tínhamos visto. A morte de que melhor me o lembro foi a de uma jovem que foi esquartejada pelo homem com quem iria casar contra a sua vontade. Foi dos casos mais chocantes e macabros, por causa de partir em partes um corpo de uma mulher… uma morte bastante cruel porque, mesmo no meio de uma guerra violenta, não tinha ouvido algo que fosse tão macabro. Após este tema sangrento e o ambiente ter ficado pesado, passamos a noite num telheiro abandonado, junto com outros semabrigos. Mas em breve, teria de ir a Mafra…
Baltasar Mateus

Entrevista a Baltasar Mateus
Entrevistador: Baltasar Mateus, o Sete-Sois, tem 26 anos; foi soldado na batalha de Jerez de Los Caballeros, em Espanha; batalha causada pela pretensão ao trono por parte de Carlos e de Filipe. Porque foi expulso do exército?
Baltasar: Durante a batalha, acabei por perder a minha mão esquerda e, por isso, por já não ser útil, fui expulso do exército, sem qualquer compensação.
Entrevistador: O que fez, após a saída do exército?
Baltasar: Comecei por pedir esmola, em Évora, para conseguir pagar um gancho e um espigão a um ferreiro e a um celeiro, para ocuparem o lugar da minha mão esquerda.
Entrevistador: Disseram-nos que, no caminho até Lisboa, houve alguns problemas. O que aconteceu?
Baltasar: Ao passar por Pegões, encontrei 2 homens que me tentam assaltar e acabei por matar um deles.
Entrevistador: Ao chegar a Lisboa, decidiu fazer o quê?
Baltasar: Fiquei em dúvida se permanecia em Lisboa, onde podia pedir esmola, ou ia para Mafra, para junto dos meus pais, onde não teria condições para trabalhar na terra, devido à minha mão.
Entrevistador: E decidiu o quê?
Baltasar: Acabei por ficar em Lisboa e segui o meu caminho até ao Terreiro do Paço, onde encontrei João Elvas.
Entrevistador: O que nos pode dizer sobre João Elvas?
Baltasar: É um antigo soldado, com mais idade e mais experiência do que eu, mas, agora, vive como eu.
Entrevistador - E como acabou esse primeiro dia de regresso?
Baltasar: João e eu, junto com alguns mendigos, passámos a noite debaixo de um telheiro abandonado, onde falámos da grande criminalidade que existia em Lisboa e também comparámos as mortes ocorridas em Lisboa com as mortes ocorridas na guerra.
Entrevistador: Obrigada, Baltasar, pela sua disponibilidade. Mais haveria a contar, mas isso é outra história…
Sofia Diniz, 12.º


Longe já vão os tempos em que regressara da guerra, a tal guerra que tirara a minha mão esquerda. Enfim, era apenas um soldado a cumprir os seus deveres para a pátria, que não podia deixar tornar-se propriedade espanhola.

Era 1717, apenas tinha 26 anos. Regressei da minha última batalha, já com ar de quem a vida tinha fugido por entre as mãos. Tinha perdido um

elemento essencial do meu esmero (talvez, veio o Fado revelar-me o contrário), mas ponderava, ainda assim, enfrentar toda a dificuldade e obstáculos que a vida inda me poderia atirar. Tornara-me um mendigo, um pobre, com metade da alma e uns meros trocos. Vivia agora em Évora, de rua em rua, à busca da pouca migalha que podia arranjar. Acabei por saber, foi-me revelado, que o exército não tinha qualquer intenção de vir ajudar a província onde me situava. Foi aí, meus caros, que decidi entrar na aventura mais ousada da minha vida, que, ao ir em direção a Lisboa, acabou por definir o meu futuro.
Com as esmolas que tinha angariado, consegui comprar a solução da minha imperfeição, tendo ficado assim com um gancho e um espigão de ferro que um ferreiro tão cuidadosamente me conseguiu trocar. Tinha, deste modo, as minhas funcionalidades restauradas, e uma potencial arma (para defesa própria, certamente).
Tinham sido um grande negócio, um espigão e um gancho de ferro por alguns dos meus trocos. Infelizmente, acabaram por não me servir tanto quanto queria. Primeiro, não recebia muita esmola com eles visíveis, e segundo, porque a excomungada da minha mão parecia continuar presente, pelo menos pela dor. De facto, ela não estava lá, mas era como se estivesse…
Por sorte, ou talvez por uma forma tortuosa de azar, tive de dar uso ao meu excelentíssimo espigão de ferro. Ia a caminho de Lisboa quando me apareceu uma dupla de homens pela frente. As intenções aparentavam ser dúbias, até se confirmar que o objetivo era me assaltar. Feri um deles com tal perspicácia que o outro fugiu! Foi o meu primeiro homicídio depois das batalhas.
Caso a memória já não me falte, segui por Montemor, Pegões e depois fui ao encontro duma embarcação em Aldegalega, que me permitiu ir de barco em direção a Lisboa, num caminho mais direto.
Entrei na viagem, e o destino realizou-se. Saí e vi-me numa situação perplexa (talvez já devia a ter antecipado), sem saber se visitava a minha família em Mafra e conseguia trabalho, ou se me mantinha em Lisboa, depois de tanto caminho, a viver à custa das minhas esmolas.
Vagueei pelas ruas da grande cidade, passando por mercados, o palácio d’el-Rei, pelo Terreiro do Paço, e pela Igreja da Nossa Senhora de
26
Oliveira, onde assisti a uma missa. Conheci o meu grande amigo João Elvas nesse dia e fiquei a saber que também fora soldado. Ficámos à conversa antes de adormecer junto a outros mendigos debaixo dum telheiro abandonado, partilhando histórias de assassinatos na cidade, comparando as atrocidades cometidas por alguns com as desgraças avistadas na guerra por outros.
A guerra foi, de facto, um grande espelho negro da decadência do nosso império, com os meus compatriotas a serem abandonados da mesma forma que se vende um escravo do Brasil, tão apreciados pelo nosso tão adorado Portugal, tanto quanto eu fui atirado às ruas para morrer com a pouca esmola que tinha angariado.
Deu-me a inspiração para contar esta altura conturbada da minha vida, essencial ao homem em que me tornei. Sendo que sou conhecido como o Sete-Sóis, não deixarei que este seja o único sol que escreva. Hei de contar mais momentos da minha história, talvez noutra altura. Já me dói a mão. Despeço-me assim de ti, leitor das minhas memórias. Ver-nos-emos noutro momento.
 Baltasar Sete-Sóis
Baltasar Sete-Sóis
Marco Santos, 12º B
Figura 17 e seguintes. Diário de Baltasar Mateus, elaborado por Beatriz Silva e Inês Airoso, 12.º H.

Encontrei este caderno algures nos destroços, por isso, se pertence ao bom ou ao inimigo, isso eu já não sei.
Escrever pode atenuar um pouco este desencanto com o qual me encontrei mesmo sem querer que ele me encontrasse. Mas aqui estou. Aqui estamos.
Sei muito pouco de mim. Muito. Muito. Pouco.
Corre o ano de mil setecentos e onze.
Sou Baltasar Mateus, o Sete-Sóis, e não se fiem no significado mítico destas últimas duas palavras, porque a grandeza não é tanta quanto
parece. Tenho vinte e seis anos e sou um soldado expulso da guerra. Agora que nada lhe sirvo com menos uma mão para auxílio.
Corria o décimo mês quando sem a esquerda fiquei, na batalha de Jerez de los Caballeros, entre Carlos de Áustria e Filipe de Espanha na guerra ao trono espanhol. Ao menos tenho-me vivo, entre onze mil homens dos quais muitos morreram ou perderam partes bem mais implicantes ao dia.

Recolhi-me a Olivença, só eu e as minhas desaparelhadas vestes. Tive sorte, houve quem aqui não chegasse e, por muito mau que seja, a ferida no meu coto esquerdo não se alastrou nem as veias rebentaram. Bastaramme ervas curandeiras e ao fim de dois meses estava sarada a cicatrização.
Eu não podia viver assim, sem utilidade. Perdoem-me os que não sabem o que é ter, mas não me habituo à falta de uma mão. É certo que o dinheiro era (e é) pouco, mas eu tinha de arranjar uma solução que me permitisse fazer a vez do meu palmo e dos meus dedos.
Durante o inverno, ocupei-me a pedir esmolas nas ruas de Évora. Pouco despendi para a comida, bebida e viagens. O ferreiro e o seleiro só me entregariam o gancho e o espigão quando lhes fosse entregue a última remessa do que ficara acordado. Agora que chegou a primavera, curiosamente símbolo do renascimento, já consegui pagar-lhes o devido e sinto-me compensado. Está a ser consideravelmente fácil a adaptação a
toda esta artilharia de couro ligada a ferros sólidos de malho e têmpera, que estão, por sua vez, ligados a correias de dois tamanhos diferentes para atá-la ao meu ombro.
Agora, outra vez de partida. O exército da Beira, moribundo de fome, descalço e roto, ladrão de inocentes lavradores e almas mais, violador de desgarradas mulheres, deixa-se ficar pelos quartéis. Mas eu não. Sem rumo, sim, mas nunca sem estrada.

Vou rumo a Lisboa. Por Montemor, devagar. A pressa não é muita quando sabemos que, do outro lado, não está ninguém a ansiar pela nossa chegada. Há muito que deixei de ter pressa. Os meus pais não sabem se vivo estou, não por pensarem que morri, mas por não terem notícias da minha morte.
Não tem chovido. O sol reina na finitude do céu, as flores brotam dos esplendorosos matos e os pássaros palram ao som dos meus passos, a única música a que os meus ouvidos se têm sujeitado, tirando o sol das balas e o trespassar das espadas.
Neste momento, sinto-a. Os ferros vão guardados no alforge, recusome a cair na descrença de que ela cá não está. E, se formiga o indicador, antão é porque está. Ninguém pode contrariar. Aguardo todos os dias pelas
noites, por ser a única altura do meu tempo em que me é permitido sonhar verdadeiramente. O sonho tem sido sempre o mesmo: estou inteiro. Confesso, outros dois são os motivos pelos quais eu os levo guardados no alforge. O primeiro, porque com eles pareço um rufia, recusam-me esmola; o segundo, porque com eles assusto e de súplica preveem um assalto. A espada que levo pendurada à cintura em tudo ajuda à desconfiança quando pelas pessoas passo.

Cheguei a Pegões pela penumbra das imensas árvores. Pelo percurso, dois homens insolentes tentaram assaltar-me, mas menos insolente não fui. Matei. Matei um deles e arrastei o seu corpo pesado com o meu gancho. Por mais meia légua o outro me seguiu, ultrajando-me, mas acabou por desistir.
Em Aldegalega, já de noite, faminto, comi sardinhas fritas e bebi uma taça de vinho que me souberam ao melhor que pela minha boca alguma vez passara. Depois, já cansado e desprovido de alternativas, abriguei-me num telheiro, debaixo de carros. Não sei se por sexto sentido ou se por instinto de proteção, adormeci com o espigão no braço esquerdo para, assim, pernoitar em paz.
Mas os assombros da minha perturbada mente invadiram-me mais uma vez. Uma utopia surgiu dos escombros a que a minha memória se
reduzira, misturada com o meu desejo. Sonhei com o choque de Jerez de los Caballeros, em que, desta vez, os lusitanos saíam vencedores por minha chefia. Na minha mão direita, eu segurava a minha mão esquerda. Acordei sobressaltado na imensidão da noite. O meu coto esquerdo fervilhava penosamente. Corrijo, a minha mão.

Por não vermos algo a olho nu, não quer dizer que não exista, certo? Voltei a aconchegar-me, ainda que atormentado. Ao menos livrei-me da guerra.

Alvoreceu. O céu estava límpido e transparente, um bom tempo aconchegante ao espírito.
Calcei as minhas botas (calçado que os meus pés estranharam, por ser hábito andar descalço) como ampara da direita, e saí rumo ao cais. Quando lá cheguei, o sol iluminava o mestre, que ansiava em bom tom que a embarcação partiria brevemente. Posto isto, mesmo sob a incerteza se permaneceria em Lisboa ou não, corri apressadamente pela prancha. Nesse momento, o som do chocalhar dos meus ganchos, que estavam guardados, fez com que um indivíduo que lá estava escarnecesse de mim, chamandome “maneta”. Mirei-o de revés e tirei da sacola o meu gancho, que parece ter intimidado de tal forma o homem porque nunca mais olhou para mim, apesar de ter percebido que ele encomendou a minha pessoa a São Cristóvão, santo defensor dos maus encontros e protetor das acidentais viagens.
Ao meu lado estava um casal que aparentava ter a idade dos meus pais. Quando a fome apertou, a mulher tirou de um saco o almoço, que partilhou gentilmente comigo depois de muito insistir para que eu comesse também. O conduto caía do pão incessantemente, não fosse pouca a minha falta de agilidade com apenas uma mão. Mas a senhora, solidária uma vez mais (porque afinal de constas é apenas disso que se trata, de fraternidade e dó), ajeitou-me a comida, ajudando-me a terminar a refeição.
O vento colaborava com os remadores que, frescos de uma noite bem dormida, com o sangue ainda dormente da aguardente, remaram certa e vagarosamente. Parecia uma viagem para o paraíso… o sol relampejava fortemente nos céus e uma família de toninhas, escuras e arqueadas, cruzaram a frente do barco. Lá no alto, avistaram-se já o castelo e as imensas torres das igrejas e empenas que cobriam a cidade.
A viagem não era curta, de todo. A dada altura, para fazer passar o tempo, o mestre falou sobre a frota inglesa atracada na praia dos Santos, que deveria ir para a Catalunha com as tropas que já cá estavam. Comentou, também, sobre o navio que trazia mulheres da má vida (estimase que eram cinquenta) que o comandante mandou ficar em terra, fazendo reparos despropositados sobre os seus corpos, dos quais os marinheiros se riram. Já eu preferi não lhe dar muita atenção, era demasiado o meu cansaço. No entanto, observe que a senhora ao meu lado não tinha ficado
muito contente com a finalidade da conversa, estava com um ar bastante sério e carrancudo, ao contrário do seu marido que não sabia se ria ou se fingia seriedade.
Será uma miragem? Não… Até que enfim, Lisboa!
À hora de chegada a maré estava vazia. Tomou conta de mim a sensação de grandeza perante a cidade alta repleta de muros e casas que os meus olhos observavam. O mestre manobrou o barco depois de ter arriado a vela triangular, e os remadores, num só movimento, levantaram os remos do lado da atracação e, do outro, arpejaram a amparar. Como o cais estava alto demais, assisti a mulher e o seu marido. Quando subimos, deparei-me com bastante agitação. No porto, os vigilantes gritavam insultos aos pescadores que passavam com o alimento recolhido do mar. Eles tinham um ar ajoujado em relação aos olheiros, estavam encharcados e com as suas peles cobertas de escamas. Essas escamas que, mesmo causando nojo a muitos, só me provocavam ainda mais fadiga de tanto que o meu estômago torcegava. Atravessei o mercado. Ao longe, ouviam-se as verdadeiras bradar aos compradores. Elas sacudiam, exasperadas, os seus estafados braços batendo-os contra o seu peito, fazendo-se ouvir o tilintar das suas bijuterias de ouro. Penso que, em comparação a muitas que por aí vejo, são mulheres bastante aboladas

35
e vaidosas, com os seus inúmeros braceletes, colares, brincos, cruzes, berloques e argolas.
Mais adiante, à porta de uma taberna, comprei três sardinhas assadas com pão e segui em direção ao Terreiro do Paço. A verdade é que eu estava perante uma terra sobre a qual eu conhecia muito pouco e, naqueles instantes após a minha chegada, só me acorria uma questão: deveria seguir orientação a Mafra, onde poderia trabalhar (mas sem uma das mãos?), ou ao paço, onde, certamente, esmola não me faltaria? Outrora foi-me dito que, para ter, era indispensável “pedir muito e por muito tempo, com muito empenho e padrinhos”. Há falta de dinheiro, apenas umas míseras moedas de ouro, optei pela segunda opção.
No paço, o mundo passava. Eu, como um mero espectador, parei. Ao ver a movimentação que lá havia, das liteiras e dos frades, dos quadrilheiros e dos mercadores, assolou-me uma saudade da guerra. Do que em tempos fui e servi.
Durante a tarde andei pelas ruas lisboetas, por bairros e praças sem fim. Bebi um caldo à porta de São Francisco e informei-me de algumas irmandades mais generosas, entre as quais, Nossa Senhora da Oliveira, onde já estive; Santo Elói; e Menino Perdido. Lembro-me tão pouco de ter sido menino, mas perdido sim.

Ao anoitecer procurei um sítio onde ficar. Pelo caminho fiz amizade com um antigo soldado, João Elvas, um homem mais velho e experiente do que eu, mas igualmente visto como um rufia. Irónico… dois solitários a compartilhar um pouco a sua solidão, juntos. O tempo estava suave, nós ficámos nuns telheiros abandonados rentes aos muros do Convento da Esperança, com mais quatro homens. Enquanto não adormecemos, falámos sobre os mais recentes crimes. Não dos nossos… Cada um sabe de si, e cabe única e exclusivamente a Deus julgar-nos. Lembro-me que um deles disse que “Isto é terra de muito crime, morre-se mais que na guerra”, no entanto como eu nunca aqui estivera, não podia comprar. Vi que bastasse na guerra. Discutiu-se sobre o homem que deu uma facada à mulher com quem desejava casar, mas ele não era do seu interesse; sobre a mulher que repreendeu o marido por causa do rumo que ele estava a tomar, acabando por ser trespassada por uma espada; e, também, da mulher que foi cortada em catorze ou quinze pedaços, cada um deles colocado num ponto diferente de Lisboa, cuja cabeça foi encontrada junto de um cadáver de um recémnascido de três ou quatro meses. Supõe-se que o seu pai a tenha matado por desonra da família. Posto isto, de tanta incredulidade, não havia mais palavras a proferir. No meu silêncio mergulhei profundamente. Por fora, era só mais um corpo ali deitado, mudo. Por dentro, uma guerra de vozes, questões,
36

porquês, incertezas assolavam a minha mente… A inconstância da vida é perturbante, porém cada vez mais familiar. A resposta é sempre a mesma: não sei. Talvez o vento saiba.
Beatriz Silva e Inês Airoso, 12.º H



[05]
D. Maria Ana não irá hoje ao auto de fé. Está de luto por seu irmão José, O imperador da Áustria, que em pouquíssimos dias o tomaram as bexigas, verdadeiras, e morreu delas, tendo somente trinta e três anos, mas a razão porque ficará no resguardo dos aposentos não é essa, muito mal andariam os Estados quando uma rainha afracasse por esse pouco se para tão grandes e maiores golpes são educadas.
Ao longo do livro Memorial do Convento, escrito por José Saramago, há várias narrativas que se cruzam, tais como a construção do convento de Mafra, a construção da passarola, os relacionamentos amorosos ou a megalomania e orgulho do rei D. João V e é no capítulo V que se inicia um dos relacionamentos centrais da obra, o qual será um elemento-chave no cruzamento dessas histórias: o amor entre Baltasar e Blimunda. Durante este capítulo, estas personagens conhecem-se no auto de fé onde a mãe de Blimunda é condenada ao desterro. Estes eventos reuniam muita gente, a população entrava em festa e saía à rua em euforia, para ver aqueles que eram condenados por não seguirem as normas impostas pelo catolicismo. Foi nesse momento que Blimunda perguntou o nome ao homem que estava a seu lado, a pedido da sua mãe, com quem comunicava por telepatia, e ele respondeu Baltasar Mateus (Sete-Sois). Nesse instante, ela, de certa forma, recebeu a bênção da mãe, que já sabia o que ele iria significar para a filha. Mais tarde, já em casa de Blimunda, casam- se simbolicamente comendo da mesma colher. Assim sendo, neste capítulo, a relação entre estas personagens é retratada como sendo muito mais do que meramente física e social: os dois estavam conectados pelo espírito, logo as suas almas encontravam-se ligadas. É possível ver- se isso desde o início, enquanto mãe e filha comunicavam mentalmente. Sebastiana Maria percebeu que ele era quem cuidaria da jovem, como é representado em, “Por que foi
38
que perguntaste o meu nome, e Blimunda respondeu, Porque minha mãe o quis saber e queria que eu o soubesse”, mesmo que elas nunca tenham trocado uma palavra. Além disso, neste capítulo, no momento em que Blimunda pede a Sete-Sois para ficar em casa dela, o mesmo diz “não tenho forças que me levem daqui, deitaste-me um encanto” e “Olhaste-me por dentro”, ou seja, mais uma vez, revela o amor entre as duas almas, que a paixão é verdadeira e de nível emocional.
Aliás, ao longo do livro, este relacionamento destaca-se pela positiva dos outros referidos na obra, tal como o dos monarcas, o qual se baseia apenas nas formalidades de um casamento de conveniência para cumprir os deveres reais. Baltasar e Blimunda não estão juntos para cumprir um protocolo, nem apenas para satisfazer os seus desejos carnais, que é o patamar em que Saramago coloca todos os outros relacionamentos.
Outro aspeto a desenvolver é a dimensão simbólica que envolve este casal; pois o escritor não deu o nome de Sete-sois a Baltasar e Sete-luas a Blimunda de forma leviana, já que o número sete é o símbolo da perfeição, tal como é perfeito o amor que os une. O nome dela teria surgido de Saramago, talvez pela musicalidade que ele encerra ou pela magia das suas três sílabas e acaba por funcionar como uma espécie de reverso do de Baltasar. Sol e Lua completam-se, são a luz e a sombra que compõem o dia, Baltasar e Blimunda são um só. E não só existe simbolismo nos seus nomes, mas também no trabalho que realizarão na construção da passarola: Blimunda recolhe as vontades, Baltasar é a força do trabalho. Vontade e trabalho árduo

são dois elementos essenciais para a realização dos sonhos, pois, sem eles, o sonho nunca ganharia asas para voar. As duas personagens são, aliás, dois elementos da trindade simbólica desta história, que representa Deus (o arquiteto, o sonhador), Cristo (a obra, o trabalho realizado) e o Espírito Santo (a inspiração, a força motivadora), aqui, respetivamente, Padre Bartolomeu de Gusmão, Baltasar e Blimunda. Também na colher que foi trocada há uma dimensão simbólica. Ela representa o compromisso sagrado que une estas duas pessoas para sempre, tal como dá início ao amor eterno do casal. Numa inversão original, as alianças trocadas num casamento tradicional são aqui apenas a partilha de uma colher, marca exterior de um compromisso interior que autentica e valida a atração e paixão dos dois, ponto que Saramago reforça desde o início ao fim da obra. Este simples ato de acordo silencioso, de certa forma, reforça a posição do autor em relação às normas e convenções sociais, que sempre questionou.

Assim sendo, e para concluir, o capítulo V é de leitura essencial pois ali começa uma das histórias centrais de Memorial do Convento. De facto, o amor de Baltasar e Blimunda servirá de elemento de contraste comorelacionamento vazio do rei D.João V eda rainha D. MariaAna e um modelo de um amor simples que desafia as normas do seu tempo e que só é impedido pelas limitações de uma época que não compreende ou tolera nem o amor verdadeiro nem o sonho de vencer o desconhecido.
40
Beatriz Oliveira, David Martins, Taisa Vilas, 12.º E Figura 19. Fotografia elaborada por Beatriz Oliveira, David Martins e Taísa Vilas, 12.º E.Áustria, o país onde vivi no castelo a que pertence a casa da minha família. Recordo cada momento passado nesta casa magnífica, de cada canto explorado por mim e pelo meu irmão José, que foi me dado como falecido há pouco!
A minha casa tinha uma incomensurabilidade de quartos, salas e salões. Recordo-me do quão colossal era a biblioteca e a cozinha principal, poderia dizer-se que seria possível albergar uma das nossas pequenas aldeias… A divisão do meu castelo que me causava mais curiosidade era o jardim, que, além de magnânimo, era onde o meu irmão passava algum do seu tempo. O meu Santo! Admirava-o tal como irmão mais velho que foi. Vê-lo nas atividades nobres com outros países amigos, como os jogos de espadas que nunca vim a entender os seus preceitos, mas que ajuizava com todo o hermetismo e enlevo pela conjuntura de ser exuberante! Idem, brinquei muito com meu germano no jardim de gáudio, cheio de rosas e violetas e dálias…. Adorava quando ele se sentava comigo nas mantas que as fâmulas assentavam na alfombra antes de nos conspurcarmos.... Nele floresciam fantasias com a minha pessoa tocante a deslindar um príncipe que me trataria como princesa que era. Ademais, nós passávamos um profuso tempo na biblioteca juntos quando éramos gaiatos: o nosso pai gostava quando nós aprendíamos algo novo e queria que fôssemos eruditos, pois dizia que o discernimento era o expediente superno do Homem. Neste aposento de pensamento ficávamos principalmente nos dias de chuva, aprendi muito com o José sobre a arte de matutar e sobre o mundo, que considerava algo inovador e fascinante! Ele ensinou-me a encarar o céu e a ver as estrelas de uma forma sui generis, víamos semblantes nelas tal como nas nuvens que passavam pelo meu jardim…
Agora não posso conjeturar como serias daqui a uns meses, anos... Nunca saberei, meu querido irmão! Fico com as nossas memórias no coração e na mente enquanto isto não desalentar…
Maria Ana
Raquel Maduro, 12.º A
Domingo, outubro, Dia 18, Tarde

Despertei esta manhã com notícias tenebrosas do meu irmão, levoume por surpresa… Sei que todos nós caminhamos para o mesmo destino, ainda assim, mesmo depois de ter recitado as minhas orações, tenho grandes dificuldades em aceitar a perda de José. As criadas ajudaram-me a vestir e preparar-me mas vou ausentar-me do auto de fé, pois nestas


últimas luas tenho sofrido dores tenebrosas de gravidez e sangramentos debilitantes, no entanto, foi organizado um jantar da Inquisição para a corte esta noite.
Tenho refletido sobre o meu casamento: não gosto de dar voltas com os meus pensamentos até porque uma mulher na minha posição não tem capacidade de mudar nada, mas ocasionalmente imagino como se fosse a minha vida se tivesse ficado em casa, em Áustria… Sinto falta do ambiente culto no qual nasci, saudade de estudar e aprender, os portugueses não passam o tempo como nós. Aqui só sou uma peça que serve de decoração e para dar infantes, enquanto o rei troca suores com cada pedaço de carne que vê. As noites estão cada vez mais difíceis de ultrapassar, nos meus sonhos vejo a ternura de um parceiro ideal, mas sou incapaz de ser infiel, sou incapaz de tudo aqui!
Domingo, outubro Dia 18, Noite

O jantar da Inquisição foi como qualquer um, mas ver o infante D. Francisco deixou-me com um nó no estômago… descanso agora nos meus aposentos, vou rezar antes de dormir e espero não acordar a meio da noite com dores debilitantes.
Teresa Matos, 12.º B



Novembro de 1717
Querido Diário

O dia de ontem foi deveras marcante, tanto no que de doloroso nele houve, quanto de mágico.
A minha mãe, Sebastiana de Jesus, foi condenada ao degredo num ao auto de fé, por considerarem que estava, de algum modo, relacionada com a feitiçaria. Sinto uma enorme cólera e um pesar imenso no meu peito. Não me foi permitido despedir apropriadamente dela. Se chamasse a atenção de quem não devia, seria também tida como bruxa e condenada, quem sabe, a que pena…
Apesar de tudo, creio que o dia findou bem. No decorrer do auto de fé, conheci um homem que, de imediato, me cativou. Foi o poder de minha mãe que me levou a ele. Convidei o padre Bartolomeu para comer em minha casa.; e Baltasar, o homem que me conquistou, seguiu-nos. Não me importei. Pareceu normal. Partilhei a colher da sopa com Baltasar e, prontamente, o padre abençoou-nos. Nesta mesma noite, entreguei-me a ele. Quando amanheceu, não hesitei e dirigi-me, sem abrir os olhos, à cozinha para comer um pedaço de pão. Amo tanto Baltasar que me recuso a usar o meu dom com ele. Não! Jamais! Prometo nunca o ver por dentro! Rafaela Nogueira e Madalena Lima, 12.º E
O Memorial do Convento pode ser considerado uma sátira à sociedade e aos costumes que se praticavam no reinado de D. João V. No capítulo V podem-se apontar vários momentos em que o autor, José Saramago, como ateu que era, condenou as práticas da Inquisição e o facto de a Igreja se encontrar sobreposta ao Rei.
Com a inúmera e incontável percentagem de pessoas que foi condenada à morte, somente por ir contra a doutrina católica, entre 1536 e 1684, não se pode de forma serena afirmar que os tempos da Inquisição não foram momentos penosos em Portugal. O episódio em que a mãe de Blimunda, Sebastiana Maria de Jesus, na obra de Saramago, foi condenada ao degredo, em Angola, pela Inquisição é consideravelmente um grande exemplo de um destino infeliz por conta das atrocidades do Santo Ofício. Sebastiana foi sentenciada com mais três hereges masculinos. Todos foram obrigados a participar na cerimónia do auto de fé e forçados à exposição pública, com consequentes açoites da comunidade, apenas por não corresponderem à religião da maioria e, como se não bastasse, dois deles acabaram por morrer na fogueira por serem considerados traidores. Isto é, aos olhos de agora, completamente

contra o artigo 5.º dos Direitos Humanos: “Ninguém será submetido a tortura nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes” . Se fosse hoje em dia, nada disso poderia acontecer.
A Igreja tinha um grande poder sobre a população. Esta chegava a tomar decisões que se sobrepunham à forma do monarca reinar. Dito isto, quando a Inquisição foi autorizada, a 23 de maio de 1536, pelo Papa Paulo II, a instituição católica afirmou-se, uma vez mais, como órgão eclesiástico que mais intervinha na vida das pessoas e, por esta razão, servia-se do Santo Ofício como meio de julgar aqueles que iam contra o mesmo. Deste modo, apesar de morrerem tantos elementos da população, as pessoas não olhavam ao número de óbitos, mas sim ao facto de elas se sentirem mais protegidas e seguras, o que os conduzia a aceitar a cerimónia de uma melhor forma.
Naqueles tempos todos aqueles que iam contra a Igreja católica eram postos de parte pela comunidade. A implementação da Inquisição veio acentuar esta disparidade entre religiões, levando à morte de milhares de pessoas só porque não iam ao encontro da religião privilegiada da maioria. Era bastante comum porque, devido aos tempos em que se vivia, a religião católica era a única forma de acolher todo o povo numa causa só. A sociedade nem tinha consciência de que se deveria respeitar tanto as outras religiões e a dimensão das mesmas. Não desacreditando no que se diz sobre ser um dia festivo e sobre as pessoas da época considerarem estas práticas ditas “normais”, não é possível negar que se esteve perante um atentado à liberdade religiosa e de expressão do próprio indivíduo. Aqueles que iam contra a corrente não tinham o privilégio de obter uma opinião contrária a toda a sociedade. Era de extrema relevância ter-se defendido os judeus, cristãos-novos, hereges e apóstatas.
Estas pessoas, que fugiam à regra, não eram, de todo, um atentado grave à Igreja. Antes pelo contrário, os cristãos-novos, como era exemplo a mãe de Blimunda, Sebastiana Maria de Jesus, apesar de terem dificuldades, pois os seus costumes eram judeus, tinham costumes diferentes, mas havia uma intenção de entrar no catolicismo. Nunca, em circunstância alguma, se deveria julgá-los por tencionarem seguir o padrão dos demais. Hoje em dia, isto é inconcebível devido à existência de liberdade religiosa na maioria dos países do globo.
Outro aspeto bastante importante que me chamou a atenção no capítulo V foi o contraste entre aqueles que estavam a ser julgados –judeus, apóstatas, cristãos-novos e heréticos – e os que julgavam, praticantes do catolicismo. Os julgados eram levados em procissão até às fogueiras. Aqueles que estavam à frente eram apenas deportados para Angola, como foi o caso de Sebastiana Maria de Jesus e de António Teixeira de Sousa, sendo que muitos deles eram mortos e os que estavam mais para trás sabiam que a sua vida iria acabar naqueles instantes morrendo queimados. Já os que estavam a assistir encontravam-se bastante felizes, como se fosse algo muito divertido, já que era considerado um evento importante naquele tempo.

O Memorial do Convento afirma o facto de esta “celebração” ser realizada num domingo, “dia do Senhor”, dia de festa. Era também uma distração para as pessoas, pois a maioria não trabalhava neste dia e tinha mais disponibilidade para festejar, com a sua família, no Rossio. Até crianças iam assistir ao evento. Blimunda, mesmo sendo a sua mãe que estava a ser julgada, fez parte da plateia que a julgava, todavia nada disse. No entanto, se fosse atualmente, esta cerimónia era impensável, já que vai contra tudo aquilo que se acredita em termos de liberdade e de Direitos Humanos. Contudo, temos de ter noção de que a realidade não é linear: na Rússia, por exemplo, ainda existem perseguições a nível religioso. Não é igual à Inquisição, mas não muda tanto quanto o nome, às vezes até é pior.
48
23. Imagem de um auto de fé (clique na imagem para aceder ao artigo da Ensina RTP)
FiguraLevar este pão à boca é gesto fácil, excelente de fazer se a fome o reclama, portanto alimento do corpo, benefício, do lavrador, provavelmente maior benefício de alguns que entre a foice e os dentes souberam meter mãos de levar e trazer e bolsas de guardar, e esta é a regra.
O Memorial do Convento pode ser considerado uma sátira à sociedade e aos costumes no reinado de D. João V. No capítulo VI, podemos ver vários momentos onde o autor, José Saramago, através do personagem Baltasar, realça a sátira, falando da importância do pão para os portugueses e expressando uma visão crítica das leis comerciais. Neste capítulo, Baltasar Sete-Sóis realça o facto dos estrangeiros que vivem em Portugal produzirem e trazerem dos seus países os seus alimentos e venderem-nos muito mais caros, sendo difícil aos portugueses comprarem-nos. Depois, Baltasar conta a história caricata de uma frota francesa; quando ela chegou a Portugal, os portugueses pensavam que vinha invadir o nosso país, afinal, tratava-se de um carregamento de bacalhau. No decorrer do capítulo, Baltasar fala com o padre Bartolomeu Lourenço, que diz sonhar que, um dia, conseguirá voar e disse a Baltasar que “o Homem primeiro tropeça, depois anda, depois corre e um dia voará”. Baltasar é cético, argumenta que, para o homem voar, terá que nascer com asas. Baltasar pergunta ao padre por Blimunda e o padre Bartolomeu alerta Baltasar para o facto de ser um pecado ele dormir com Blimunda sem serem casados. Depois, Baltasar e Bartolomeu vão para S. Sebastião da Pedreira, para verem a máquina que Bartolomeu inventou para, um dia, poder voar e à qual chamaram passarola. Quando chegaram, Bartolomeu mostrou o desenho da passarola a Baltasar, explicando-lhe como é que tencionava fazê-la voar. Após a explicação, Bartolomeu pede-lhe para o ajudar na construção da passarola. Inicialmente, Baltasar mostra-se receoso em aceitar a proposta, dizendo
“eu não sei nada, sou um homem do campo, mais do que isso só me ensinaram a matar, e assim como me acho, sem esta mão”. Bartolomeu compara Deus a Baltasar dizendo “[…] Deus não tem mão esquerda, porque é à sua direita, à sua mão direita, que se sentam os eleitos, não se fala nunca da mão esquerda de Deus […] à esquerda de Deus não se senta ninguém, é o vazio, o nada, a ausência, portanto, Deus é maneta.” Baltasar aceita o desafio.
Duarte Silva, 12.º C
Amores imperfeitos
No capítulo VI da obra Memorial do Convento, de José Saramago, Baltasar Sete-Sóis, a personagem principal da história narrada, pergunta ao padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão o porquê de Blimunda, a sua companheira, ter de comer pão de olhos fechados mal acorda, “Queria saber, padre Bartolomeu Lourenço, porque é que Blimunda sempre come pão antes de abrir os olhos pela manhã”.
Ora, Baltasar questiona-se acerca de um simples aspeto acerca de Blimunda, aquela que partilha com ele o leito em que dormem, isso leva à questão: até que ponto se conhece aqueles que nós amamos? Um simples pedaço de pão é razão de desconfiança para Baltasar, que não sabe da complexidade dos olhos de Blimunda, que necessita de comer o pão para não conseguir ver para além daquilo que os olhos comuns veem. Blimunda confessa a Baltasar, no oitavo capítulo, que consegue “olhar por dentro das pessoas” em jejum, por isso come o pão para não ver Baltasar por dentro.
Em 1700 e tantos, a desconfiança deste homem foi o pedaço de pão, mas e nos dias de hoje? O passado por vezes é uma ferida aberta, incurável, e para muitos é por isso difícil de explorar e contar ao parceiro de forma natural. Traumas, desconfianças ou simplesmente condições congénitas tornam-se impasses em algumas relações. No caso de Blimunda, esta tinha um dom -ver para além do que é visível- e, ao mesmo tempo, era um medo, visto que a sua mãe havia sido executada num auto de fé por estar ligada à bruxaria. Até que ponto Baltasar seria de
50
confiança para ela depositar nele tamanho segredo? Mas Sete-Sóis era confiável e essa foi talvez a perdição das perdições de Blimunda, que percorreu Portugal de lés-a-lés para o encontrar, e acabou por encontrálo, apesar de já ser tarde…
Figura 24. Convite de Pe. Bartolomeu Lourenço para Baltasar, por Filipe Ficher, 12.º G.
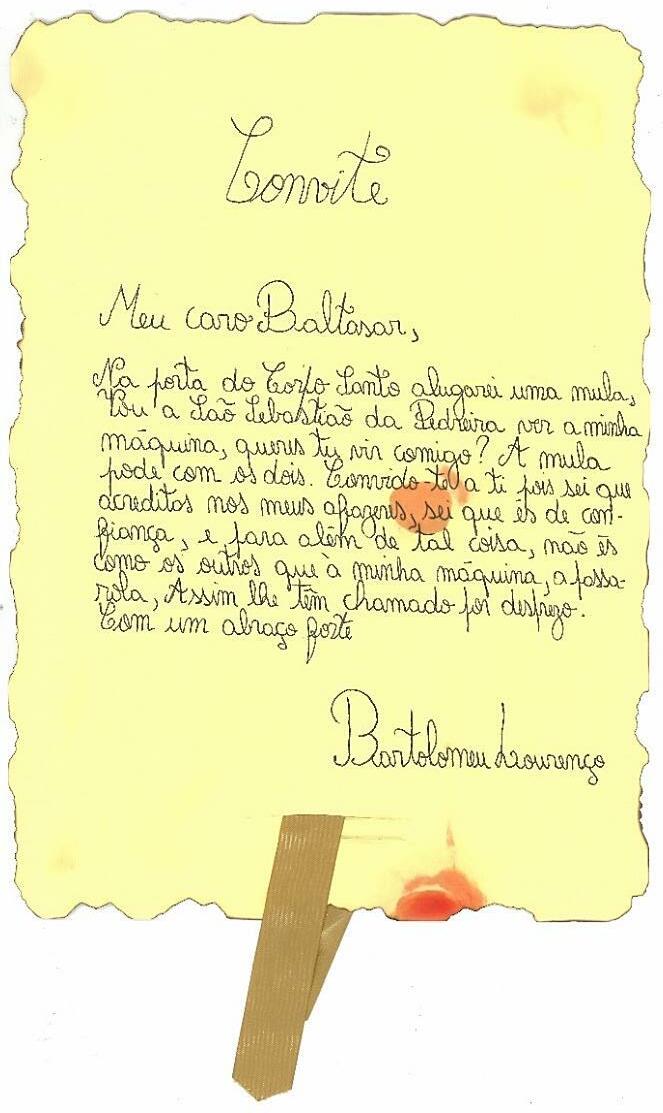
Confiar no próximo torna-se por vezes difícil, mas o maneta aceitou Blimunda, sendo ela como era, sem lhe apontar defeitos, nem tentar aperfeiçoamentos. Pertenciam-se um ao outro, sem preconceitos, eram só Baltasar SeteSóis e Blimunda SeteLuas, completavam-se. Creio que Baltasar e Blimunda não são o típico par romântico, como Pedro e Inês ou Romeu e Julieta, mas são de certo modo aquilo que qualquer pessoa deseja, um amor imperfeito, onde são aceites as imperfeições um do outro, sem preconceitos nem julgamentos. São as imperfeições perfeitas.
Filipe Ficher, 12.º G
Mas tem cada coisa seu tempo. Por enquanto, faltando ao padre Bartolomeu Lourenço o dinheiro para comprar os ímanes que, na sua ideia, hão de fazer voar a passarola, cujos, ainda por cima, terão de vir do estrangeiro, está Sete-Sóis no açougue do Terreiro do Paço, por empenho do mesmo padre, transportando ao lombo peças de carne variada, quartos de boi, leitões às dúzias, carneiros aos pares, que passam de um gancho para outro gancho, e no trânsito deixam toalhas de sangue na serapilheira que lhe cobre as costas e a cabeça, é um ofício sujo, vá lá que compensado por algumas sobras, um pé de porco, uma franja de dobrada, e, querendo Deus e o humor do açougueiro, a apara de vazia, de alcatra ou pojadouro, embrulhados numa crespa folha de couve, para que Blimunda e Baltasar se alimentem um pouco melhor que o vulgar, quem parte e reparte, mesmo não sendo Baltasar o da partição, para alguma coisa aproveitaria a arte.

Diário de Maria Ana Josefa Antónia, Regina (novembro de 1710 - dezembro de 1711)
20 de novembro 1710
Querido Diário, Já fazem dois anos que cheguei da Áustria e ainda não fui capaz de dar a El-rei um descendente. No início quando cá cheguei, El-rei dormia comigo todos os dias. Agora, durmo sozinha enquanto ele passa as suas noites nos seus aposentos, visitando apenas dois dias por semana para cumprir o seu dever conjugal. Dizia que os odores deixados no cobertor de penas que comigo veio da Áustria eram insuportáveis, devia-se talvez aos nossos odores ou mesmo ao passar do tempo.
Maria Ana13 de janeiro 1711
Querido diário, Hoje foi o dia em que El-rei visitou para cumprir o seu dever conjugal e, este chegou confiante após ter uma conversa com o bispo inquisidor que lhe confirmou que se este se comprometesse à construção de um convento de franciscanos na Vila de Mafra, eu lhe daria um descendente. Enquanto tal professei rezas juntamente com a marquesa de Unhão para que fosse capaz de dar a El-rei um descendente da coroa portuguesa neste próximo ano.
Maria Ana
10 de fevereiro 1711
Querido diário, Talvez tenha sido um milagre de São Francisco, como aquele onde se passou a tentativa de furto de três lâmpadas de prata do convento de S. Francisco de Xabregas, que me fez finalmente capaz de dar a El-rei um herdeiro!
Maria Ana
17 de abril 1711
Querido Diário, Oh Deus porque me fazeis coisas destas! Levar meu irmão José Jacó com apenas 33 anos, deixando-me até fraca com tal noticia! Esta que vem em
tempos tao difíceis, não me é dada a permissão para sair dos meus aposentos dada a fragilidade a que esta gravidez me expôs, já três vezes sangrei em cinco meses.
Maria Ana23 de novembro 1711
Querido Diário, Já vem chegando o tempo da criança nascer, já nem a pele estica mais. Até já ouvi compararem a barriga com uma nau da Índia. É extraordinário como se formam um menino ou uma menina no ventre de uma mulher e que estes não sabem como é o mundo cá fora, nem ninguém sabe o que se podem vir a tornar, rei ou frade, soldado ou assassino. Porque, como já se dizia, podemos fugir de tudo, menos de nós próprios. Agora andam no convento a dizer orações e a encomendar missas para que esta cria chegue ao mundo com saúde, Deus queira, sem defeitos visíveis ou invisíveis e, para el-rei, um herdeiro macho lhe traria maior alegria. Maria Ana
7 de dezembro 1711
Querido Diário, Finalmente dei à luz a minha primeira cria já três dias se passaram e dessa lembrança apenas resta uma pequena brisa, uma recordação ténue, desde aí todas as notícias me são indiferentes. Deus respondeu às rezas e abençoou-nos com uma criança saudável e forte, de bons pulmões como se ouviu pela sua gritaria. El-rei vai ter de contentar-se com uma menina, por mais que toda a gente quisesse um menino, mas não se pode ter tudo. Apesar de tal, acredito que o reino esteja em grande êxtase com o nascimento do herdeiro da coroa, quase como uma bênção, que a seca que já há oito meses que durava terminou com o nascimento da Maria Xavier Francisca Leonor Bárbara. Maria Ana
18 de dezembro 1711
Querido diário, Que dia feliz que foi o batizado de Dona Maria em dia de Nossa Senhora do Ó, até el-rei assistiu à cerimónia comigo na minha tribuna. Maria Xavier
54
foi batizada por sete bispos diferentes e recebeu de seu tio, irmão d’El-rei, uma cruz de brilhantes. Que homem tão elegante e encantador! Até a mim ofereceu uma pluma de toucar e uns brincos de diamantes! Maria gostará de saber quando crescer que o seu batizado foi um festejo de puro luxo e grandeza repleto de duques, marqueses e condessas até com direito a luminárias ao anoitecer. Um verdadeiro festejo à francesa, para celebrar a nossa dona Maria Xavier Francisca Leonor Bárbara.
Maria Ana
Catarina Cardoso, 12.º G



Figura 25 e anteriores. Diário de Dona Maria Ana Josefa, por Catarina Cardoso, 12.º G.



Batizado da Infanta (adaptação dramatúrgica)
Cena I
Na capela real, encontra-se a corte, D. Francisco (o padrinho de batismo da infanta), a Rainha e o Rei, todos engalanados com muitos adereços, sentados nos bancos de igreja, enquanto, no altar, estão sete bispos.
Entra o Duque de Cadaval em cena, com a Infanta ao colo, estando atrás do acompanhamento e à frente de alguns membros da corte, que trazem os objetos batismais, todos também bastante ornamentados, e tomam o seu lugar na capela. Decorre o batismo, que transita para a respetiva festa de batizado.
Todas os personagens, com exceção do criado de D. Francisco, Alfésio, e a aia da rainha, Murquila, saem de cena.
Alfésio (Aproxima-se de Murquila, com os presentes para a Infanta e para Rainha dentro de caixas, todas elas decoradas a ouro) – O Senhor D. Francisco manda entregar estas ofertas para a consagração da Infanta. Para a menina e para sua Majestade, a Rainha.
Murquila – E posso saber o que levo?
Alfésio (Sussurrando) – Só aqui entre nós, dentro destas caixas estão uma cruz de brilhantes, uma pluma de toucar e uns brincos de diamantes. Segundo o que ouvi, os brincos até são de obra francesa.
Murquila (Com ar de surpresa, sussurrando) – Credo! Mas a menina ainda nem fala!... Sabeis ao certo o valor deles?
Alfésio (Sussurrando) – Por acaso, até sei; o Senhor D. Francisco mencionou que, a cruz, comprou-a por cinco mil cruzados e os brincos, então, lhe tinham custado perto de vinte e cinco mil!
Murquila (Quase que deixa as caixas caírem das mãos) – Bem, é melhor ir entregar os presentes antes que nos apanhem a falar de coisas que não devíamos. Aproveite a festa, que me vou.
Alfésio – Você também. (Ambos saem de cena.)
Cena II
A ação passa para o Alto do Castelo, onde se encontram Blimunda e Baltasar, um ao lado do outro, a ver as luminárias da festa. Baltasar aparenta estar cansado.
Blimunda (Batendo meigamente nas costas de Baltazar) – Então?… Estáte a chegar a velhice, homem?
Baltasar (Com um leve sorriso) – Não. Só me doí a mão, por causa do trabalho. Tem sido duro. E ainda mais, com esta história do batizado…
Blimunda (Rindo) – Que mão te dói?
Baltasar (Com um tom irónico) – Então não sabes que só pode ser a esquerda?! (Ambos começam a rir-se e saem de cena.) Mariana Barcelos e Rodrigo Ferreira, 12.º D
Figura 26. Ilustração alusiva ao batizado da Infanta Maria Bárbara, por Mariana Barcelos e Rodrigo Ferreira, 12.º D.

[08]
Dorme Baltasar no lado direito da enxerga, desde a primeira noite aí dorme, porque é desse lado o seu braço inteiro, e ao voltar-se para Blimunda pode, com ele, cingi-la contra si, correr-lhe os dedos desde a nuca até à cintura, e mais abaixo ainda se os sentidos de um e do outro despertaram no calor do sono e na representação do sonho, ou já acordadíssimos iam quando se deitaram, que este casal, ilegítimo por sua própria vontade, não sacramentado na igreja, cuida pouco de regras e respeitos, e se a ele apeteceu, a ela apetecerá, e se ela quis, quererá ele.
Memorial do Convento, romance conhecido internacionalmente e escrito por José Saramago, foi publicado pela primeira vez em outubro de 1982. A ação decorre no início do século XVIII, durante o reinado de D. João V, ainda com a presença da Inquisição.
O oitavo capítulo desta obra começa por nos falar do casal Baltasar e Blimunda e da sua vida conjugal. Os personagens revelam-se apaixonados, tendo uma relação íntima e próxima: dormem juntos e abraçados. Apesar de toda esta proximidade, Sete-Sóis ainda desconhece o segredo de Blimunda, ele acha muito estranho o facto de não abrir os olhos antes de comer logo de manhã e, quando a questiona, a mesma dizlhe que foi um hábito que adquiriu.
Com objetivo de descobrir o mistério, Baltasar esconde o pão de Blimunda e obriga-a a contar-lhe o seu segredo. Blimunda explica-lhe que possui um poder que lhe permite “olhar para dentro de tudo”. Cético, Baltasar, diz-lhe que ela deve estar a “mangar” com ele e que isso é impossível, por isso Blimunda decide comprovar as suas palavras levando-o a dar um passeio no dia seguinte.
Durante o passeio, Sete-Luas revela-lhe que uma mulher se encontra grávida, a composição do solo, as doenças presentes em pessoas por quem passam e que um homem vai ser estrangulado. Mesmo após todas estas
58
revelações, Baltasar ainda não se encontra convencido, o que leva Blimunda a utilizar o seu poder novamente e a encontrar uma moeda de ouro. Neste passeio também é dada a notícia de que a rainha está grávida novamente. Depois desta cena, o narrador dá-nos a conhecer melhor uma personagem já referida, D. Francisco, irmão do rei, que está a disparar da janela do seu palácio em direção aos marinheiros.
Em seguida, são mencionados episódios da história de Portugal, o ataque dos franceses no Rio de Janeiro e as naus inglesas, que foram confundidas como francesas. É exposto ainda outro episódio, no qual um clérigo quebra os votos feitos, andando de casa em casa, divertindo-se com mulheres até que é apanhado e obrigado a fugir pelas ruas nu. Após expor estes acontecimentos que permitem retratar a sociedade da época, o narrador centra a sua atenção na cerimónia onde ocorre a promoção do bispo D. Nuno da Cunha a cardeal. Com isto, constata-se mais uma vez o luxo do alto clero e nobreza, que contrasta com a pobreza do casal, Baltasar e Blimunda.
Mais tarde, nasce o infante D. Pedro e o capítulo acaba com a escolha do local de construção para o novo convento, o Alto da Vela, feita pelo rei. Neste capítulo, existem algumas referências importantes ao tempo e espaço. Como referências de tempo, temos “Meses inteiros se passaram desde então, o ano já é outro...”, “Entretanto, nasceu o infante D. Pedro...”, o que corresponde a 1712. Em termos de espaço, a capital é fundamental, “em Lisboa”; na casa de Blimunda, “Chegando a casa...”; e nas ruas da cidade. O Tejo também é mencionado, “... à beirinha do Tejo...”, e o local onde o convento vai ser erguido também, Mafra (Vela), “El-rei foi a Mafra escolher o sítio onde há de ser levantado o convento. Ficará neste alto a que se chama Vela...”.
A linguagem e estilo de Saramago mantêm-se neste capítulo, sendo um destes a ausência de pontuação expressiva, o discurso direto é apenas marcado por virgulas e maiúsculas: “Dá-me o pão, Baltasar, dá-me o pão, por alma de quem lá tenhas, Primeiro me terás de dizer que segredos são estes”. Os comentários/apartes e o tom irónico também são fundamentais na sua escrita, como se percebe pelos seguintes excertos: “se quisermos rir do que estes nossos olhos veem, que a terra dá para tudo” e “até que enfim desce o Te Deo laudamos, louvado seja deus que tem de aturar estas
invenções”, respetivamente. O uso do presente do indicativo também marca a sua escrita, “Dorme Baltasar no lado direito da enxerga, desde a primeira noite aí dorme”.
No capítulo apresentado, é possível identificar vários tipos de narrador, um narrador não participante ou heterodiegético, de focalização omnisciente (tudo sabe, inclusive do passado e do futuro), “[…] São pensamentos confusos que isto diriam se pudessem ser postos por ordem, aparados de excrescências, nem vale a pena perguntar, Em que estás a pensar, Sete-Sóis, porque ele responderia, julgando dizer a verdade, Em nada, e contudo já pensou tudo isto […]”. Por vezes, este narrador mostra-se como personagem, mostrando-nos o ponto de vista de uma personagem específica (focalização interna). Também existe a focalização interventiva, na qual tece juízos de valor, comentários, etc. Como exemplos de recursos expressivos presentes neste capítulo, temos a comparação, “[…] ver um clérigo a correr como lebre […]”; a metáfora, “[…] é o suspiro do dia […]”; enumeração/gradação, “[…] à uma apareceu, às duas se escondeu, às três nunca mais foi visto […]”. O capítulo ainda apresenta um momento de intertextualidade com Os Lusíadas, quando o narrador diz “[…] esta tão claramente vista à luz do dia […]” (pleonasmo), que recupera o verso “vi claramente visto o lume vivo” (V, 18.1).
Em conclusão, neste capítulo, o autor critica os ricos e nobres, como D. Francisco, que se entretém a “espingardear” os marinheiros, o que mostra que os poderosos desprezam a vida dos seus inferiores/povo. Saramago denuncia ainda, o clero hipócrita que prega uma coisa e faz outra, preocupando-se mais com os prazeres mundanos, que faz votos de castidade e não os respeita no seu dia-a-dia.
Bibliografia/Webgrafia
Teixeira, António, “Memorial do convento, narrador espaço tempo”. Consultado a 15 de maio de 2002. Disponível em https://pt.slideshare.net/mocax1998/memorial-do-convento-narrador-espao-e-tempo-72789771
Fernandes, Cidália (2010). Páginas de Saramago: Memorial do Convento em Análise. Lisboa: Plátano Editora. Matos, A & Braga, C. (2020). Preparar o Exame Nacional de Português - 12º ano. (2ª edição). S.l: Gráfica Vilaverdense https://prezi.com/mo5shbdi4qgy/memorial-do-convento-capitulo-viii/ https://leituraseterminologia.wordpress.com/2010/03/08/memorial-do-convento-capitulo-viii/
Vitória Correia, 12.º B
60
Criticando os portugueses

No capítulo oito do Memorial do convento, são abordados diferentes temas, como o estranho hábito de Blimunda e as críticas feitas pelo narrador relacionadas à sociedade portuguesa.
Blimunda, esposa de Baltasar, tinha o estranho hábito de comer um pouco de pão quando acordava, com os olhos fechados. Baltasar, sem perceber o porquê deste estranho hábito, pergunta-lhe e a mesma responde que, se ela não comer um pouco de pão com os olhos fechados mal acorda, ela vai ganhar “poderes” que a possibilita de ver o interior das pessoas.


Ao longo deste capítulo, o narrador apresenta várias críticas ao povo português bem como aos militares e clérigo.
O narrador começa a criticar o povo português, que é motivo de gozo por parte dos outros países. Por exemplo, “os marinheiros vão para o mar descobrir a Índia descoberta ou o Brasil encontrado”, ou seja, estes marinheiros que vão à descoberta destes continentes, na realidade, não vão fazer nada de relevante, pois já foram descobertos e colonizados há muito tempo, por conseguinte, continuam a insistir em algo que já não é o fenómeno que outrora era. São também criticados os portugueses que
se encontram no Rio de Janeiro, o narrador refere-se à inutilidade dos militares, tendo em conta que estes estavam a dormir a sesta quando os seus inimigos chagaram e não houve a necessidade de trocar balas, visto que, os soldados portugueses são indolentes e não estavam muito preocupados com os soldados franceses, apesar de estes na altura serem inimigos da coroa.
Além dos militares, também a igreja é criticada por não cumprir com os seus votos e obrigações. É o caso de um clérigo que gostava especialmente da companhia das mulheres para satisfazer o seu prazer e que surge caracterizado como pugilista e garanhão, isto são, coisas impróprias da sua classe social.
Em síntese, este capítulo aponta o dedo a falhas da sociedade portuguesa tal como a quem o governa.
Joana
Medeiros,
12.º A
Naquela manhã acordei como do costume. E estava tudo normal, até estender a mão ao saquitel onde era habitual guardar o tão indispensável pão que comia antes de me levantar. Para minha surpresa, já lá não estava, o que me fez procurar entre as almofadas, ao meu redor e até mesmo no chão. Esta busca às cegas devia-se principalmente ao meu segredo ainda por revelar, uma vez que sabia que Baltasar estava perto, mas não tão próximo. Ele estava a olhar-me e tinha escondido o pão dentro da sua almofada. Pediume que o olhasse nos olhos, mas não consegui. Tapava-os com as mãos, pois tinha prometido a mim mesma que não iria olhar para o interior de ninguém. Tenho até hoje bem presente a força que me fazia nos braços e pernas. Só parou quando percebeu que tinha chegado ao meu limite. Cedeu-me a vontade, e acabou por mo devolver, comi-o até à última dentada e só depois abri os olhos.
Ao ganhar coragem, comecei por lhe falar da primeira noite em que estivemos juntos. Lembro-me dela vivamente, e de quando lhe prometi que não o olharia por dentro. Ele levantou-se da cama e olhou-me incrédulo e inquieto, pensou que lhe estivesse a mentir, uma vez que, a princípio, se trataria de uma condição impossível.
Revoltei-me, senti-me traída, pois ele duvidou da minha palavra, mesmo
62
depois de tudo o que ele fez para tentar descobrir a verdade. Implorei-lhe para que nunca mais me tirasse o pão e, mesmo assim, pediu como confirmação que lhe lesse a alma. Recusei, pois tinha acabado de comer e não resultaria, mas prometi que no dia seguinte saí com ele à rua para ver o que as pessoas sentiam, mas com uma condição, Baltasar não podia passar à minha frente, uma vez que não o queria ver por dentro, isso acabaria comigo e com o prometido.
A grande dúvida de Baltasar era o meu medo do santo ofício, pois já a minha mãe tinha sido condenada por estas práticas, consideradas bruxaria. Mas diferente dela eu via céu e inferno, eu via o que estava por dentro dos corpos e até debaixo da terra; não era feitiçaria, apenas a combinação dos meus olhos, com o jejum ou a ausência da mudança de quarto de lua.
O dia seguinte chegou e tinha de lhe mostrar o que era capaz de fazer, estava muito nervosa, não preguei olho a noite toda ao pensar no que seria a nossa relação depois daí. Saímos de casa, vi o ventre de uma mulher grávida de um bebé em risco, o estômago vazio de um velho e o chão onde pisávamos, na sua composição, as tripas de um frade e o coração dos peregrinos. Ainda insatisfeito Baltasar pediu-me mais uma prova; posto isto, mandei-o escavar e encontrar uma moeda de prata que previamente tinha visto.
Figura 28. Ilustração de Ricardo Bessa (clique na imagem para aceder à página do artista), apresentada por Joana Medeiros, 12.º A.
No entanto, Baltasar não encontrou uma moeda de prata, mas sim uma de ouro. Expliquei-lhe que confundia os dois materiais, mas que isto se refletiria em lucro para ele, e não numa mentira.

Hoje em dia, apesar de ele saber a minha essência e acreditar em mim, pergunto-me se teria mesmo sido necessário sujeitar-me a tudo aquilo, ao invés de proteger a minha verdade.
Ana Sofia Macedo, Catarina Mendes, Luís Castro, 12.º F
Outro ferro anda agora no alforge de Sete-Sóis, é a chave da quinta do duque de Aveiro, que tendo vindo ao padre Bartolomeu Lourenço os falados ímanes, mas ainda não as substâncias de que faz segredo, podia enfim adiantar-se a construção da máquina de voar e pôr-se em obra material o contrato que fazia de Baltasar a mão direita do Voador, já que a esquerda não era precisa, tão pouco que o próprio Deus a não tem, consoante declarou o padre, que estudou essas reservadas matérias e há de saber o que diz.

Figura 29. Seleção de imagens relacionadas com o momento narrativo em causa feita por Francisco Cardoso, 12.º B.
Lisboa, 28 de novembro de 1981.
O dia decorre lentamente após a manifestação que tomou lugar nesta manhã. Foi um tanto magnífico poder presenciar uma juventude lisboeta cheia de coragem e vontade para marchar pelas ruas de Lisboa numa luta
65
contra a guerra nuclear, capazes de fazerem as suas opiniões serem ouvidas. Um espetáculo tão verdadeiramente fascinante que me invadiu com inspiração, tanta que decidi a próxima passagem na minha mais recente obra. Figura 30. Ilustração do Terreiro do Paço, feita por Adriana Vieira, 12.º A.
Mas ao invés de uma revolução de objetivos puros e corretos, pretendo descrever uma revolução mais contraditória, com largas margens para críticas, já que é esse todo o meu objetivo. Penso escrever uma revolução em que os revoltados serão freiras e a causa dessa revolta será nada mais do que as decisões do rei D. João V. Intento que haja uma revolta de freiras contra um decreto feito pelo rei, mantendo oportunidade para uma crítica à sociedade e ao catolicismo. Sua majestade irá ordenar que os visitantes dos conventos sejam apenas familiares das religiosas pretendendo pôr fim aos escândalos que são apareceram as mesmas prenhas. Evidentemente que tudo isto é hipocrisia, ao rei frequentar as esposas do senhor é algo que só lhe fica bem.

Quero juntar também a esta nova passagem outros momentos de alvoroço, talvez uma tourada com derrames de sangue e euforia, quem sabe… Sinto-me, eu mesmo, invadido por um complexo de ideias: a partida de Bartolomeu Lourenço de Gusmão, um rebuliço em que tenho a oportunidade de envolver Baltasar e Blimunda e uma revolta de freiras que irá contra o catolicismo próprio.
Assim me encontro, numa espécie de efervescência para a escrita; tenciono que esta obra seja uma das melhores caricaturas da sociedade portuguesa de outrora e planeio criticar e satirizar tudo o que me seja oportuno. Continuando nesta nova passagem que creio que será uma continuação digna de um romance português.
José SaramagoO povo e as touradas
A imagem é uma crítica feroz e ilustra a uma das práticas sociais mais ocorrentes: as touradas.

Adriana Vieira, 12.º A
Figura 31. Cartoon "O toureiro morre" de Torro.
Nesta figura é possível evidenciar, em plano de fundo, embora de forma não muito nítida, uma grande plateia de espectadores representada por sombras pretas. Ainda é percetível uma extensa arena taurina, através das cores branco e vermelho da cerca e, também, dos tons acastanhados da terra e da areia que remetem para o pavimento da praça. Em destaque, como personagens principais, observamos um touro e um toureiro. O imenso animal, que se encontra de pé, é de cor castanha e tem uns cornos
bastante pontiagudos e arqueados. Este, numa posição soberana (e um tanto teatral), impõe uma fina e longa espada perante o toureiro que assume, por sua vez, uma postura de rendição frente ao animal. A sua inferioridade é constatável pela sua posição, em que se encontra com as suas mãos e joelhos apoiados no chão. Além disso, este facto é reforçável pelos quatro ferros já espetados na sua zona lombar e pelo sangue derramado pelas suas aparelhadas vestes, de tons beges e rosa, apropriadas à sua função.
Com esta imagem, o artista quis, claramente, fazer frente a esta prática que tem, unicamente, como base o divertimento do povo provocado pela dor mórbida de um animal inocente. Ao inverter os papéis, a mensagem que nos é transmitida é que, independentemente de ser um animal ou um ser humano exposto a costumes culturais horrendos, a população vai continuar a aderir com êxtase, porque o que mais importa é o seu próprio prazer.
Esta criação pode relacionar-se com a obra Memorial do Convento, de José Saramago, visto que, no nono capítulo, o escritor julga implacavelmente esta festividade. Isto é verificável no seguinte momento: “[…] e entram o quarto touro, o quinto, o sexto, entram já dez, ou doze, ou quinze, ou vinte, é uma sangueira por todo o terreiro, as damas riem, dão gritinhos, batem palmas, são janelas como ramos de flores, e os touros morrem uns após outros e são levados para fora numa carroça de rodas baixas puxadas a seis cavalos, como só para gente real ou de grande titulo se usa, o que, se não prova a realeza e a dignidade dos touros, está mostrando o quanto eles são pesados, digam-no os cavalos, aliás bonitos e luzidamente aparelhados[…]”. Além do mais, Saramago compara com toda a destreza as touradas com os autos de fé, pois em ambas as situações o alarido e o convívio do povo sobressaem em relação aos valores morais, não importando se é a vida de um animal ou de um indivíduo que está em causa.
Deste modo, ambos os autores opinam negativamente de modo vincado, chamando as pessoas à atenção para a falta de escrúpulos, de valores morais e éticos e de sentido de justiça presente na sociedade.
Francisco Cardoso, 12.º B
Touradas: (re)pensar
A tourada é uma competição física que envolve toureiros, cavalos e touros, geralmente de acordo com um conjunto de regras culturais. Este evento é mencionado no romance Memorial do Convento, da autoria de José Saramago.
Com efeito, distinguem-se diversas variedades de touradas, nomeadamente algumas formas que envolvem dançar ou pular sobre uma vaca ou touro. A modalidade mais conhecida é a tourada ao estilo espanhol, praticada nos seguintes locais: Espanha, Portugal, sul da França, México, Colômbia, Equador, Venezuela e Peru. O Touro de Combate Espanhol é marcado pela sua agressividade e pelo seu físico, e é criado ao ar livre com pouco contacto humano.
A prática das touradas é controversa devido a algumas preocupações, a saber: o bem-estar animal, o financiamento e a religião. Enquanto alguns estilos são considerados um desporto sangrento, em Espanha são definidos como manifestações artísticas ou eventos culturais, sendo que os regulamentos locais os definem como património. Na verdade, as touradas são ilegais na maioria dos países, mas permanecem como práticas legais na maioria dos territórios espanhol e português, bem como em alguns países hispano-americanos e em algumas regiões do sul da França.
Em Portugal, as principais estrelas das touradas são os cavaleiros, ao contrário de Espanha, onde os toureiros assumem o maior destaque. Não obstante, são frequentes as touradas com matadores, nomeadamente matadores portugueses que praticam o seu ofício em Espanha e que, quando se encontram em Portugal, substituem o estoque no golpe final por uma bandarilha, um pequeno tipo de lança. Alguns exemplos de famosos matadores portugueses são Vítor Mendes e Pedrito de Portugal.
A maioria das corridas de touros portuguesas são realizada em duas fases: o espetáculo do cavaleiro, seguido da pega. O espetáculo começa com o cavaleiro, num cavalo lusitano especialmente treinado para as lutas, lutando com o touro a cavalo. O objetivo dessa luta é esfaquear três ou quatro bandarilhas nas costas do touro. Na segunda etapa, designada
por pega, os forcados (um grupo de oito homens) desafiam o touro diretamente, sem qualquer proteção ou arma de defesa. O homem da frente provoca o touro numa investida para realizar uma pega de cara: um segura a cabeça do animal e é rapidamente ajudado pelos seus companheiros, que os cercam e seguram o animal até que ele esteja subjugado. Uma curiosidade relacionada com esta temática é o facto de muitas das pessoas que assistem a touradas à portuguesa, nos Estados Unidos, utilizarem a expressão “esquadrão suicida” para se referir a esse grupo de oito homens.
No final da corrida, o touro não é morto, sendo conduzido por dois campinos a pé de volta ao seu curral. Após a luta, o touro pode ser morto por um profissional ou, na eventualidade de ter tido um bom desempenho, é restaurado à saúde e liberto ao pasto para reprodução.

Em suma, pode-se, efetivamente, considerar que as touradas constituem uma temática de alcance global, na medida em que a sua prática é reconhecida por todo o mundo, assumindo, inclusive, uma diversidade considerável de modalidades, sendo, ainda, elevadas a uma categoria artística por algumas culturas.
Webgrafia:
“Tauromaquia”. (2021, junho 2). Wikipédia, a enciclopédia livre. Disponível em https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Tauromaquia&oldid=61298159.
“Como é uma tourada em Portugal?”. Consultado a 21 de maio de 2022. Disponível em https://basta.pt/como-e-uma-tourada-em-portugal/ Mateus Nunes, 12.º B
Regressou o filho pródigo, trouxe mulher, e, se não vem de mãos vazias, é porque uma lhe ficou no campo de batalha e a outra segura a mão de Blimunda, se vem mais rico ou mais pobre não é coisa que se pergunte, pois todo o homem sabe o que tem, mas não sabe o que isso vale.
Baltasar “Sete-Sóis” é talvez a personagem mais importante até ao capítulo X, capítulo que me foi atribuído para escrever esta memória.

Baltasar é um soldado participante na guerra que Portugal trava no século XVIII contra a Espanha, onde perde a sua mão esquerda e fica devastado com tal tragédia. Volta a Portugal devido à sua incapacidade de lutar e torna-se sem-abrigo, tendo de poupar cada cêntimo da pouca esmola que recebe para substituir a sua mão esquerda com um espigão ou um gancho. Vive tempos difíceis em Lisboa com outros companheiros de guerra que passam por situações semelhantes, mas Baltasar acaba por encontrar forma de sobreviver.

Entretanto, pelo desenrolar da história, Baltasar torna-se açougueiro e conhece Blimunda, que se torna sua companheira tendo sido declarada esposa deste através do padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão, que conhece posteriormente. Tornam-se também bons amigos ao ponto deste lhe mostrar a sua “obra”, que muitos chamavam de “passarola” como forma de repúdio, mas que com a ajuda de Baltasar acabaria por ser bemsucedida.
Descrevendo a personagem mais detalhadamente agora no capítulo X, Baltasar regressa a Mafra onde tem a sua família e reencontra-se com os pais: a sua mãe fica muito mais emocionada do que o seu pai quando reparam na sua mão esquerda. Baltasar apresenta também Blimunda aos

pais, que prontamente desejam saber mais sobre ela. Posteriormente, Baltasar vem a descobrir pela boca no pai que um dos terrenos da família tinha sido vendido para se construir o Convento de Mafra.

Por fim, Baltasar conhece o seu cunhado, Álvaro Diogo, e ambos vão ao Alto da Vela, local onde este costumava brincar quando era criança e acabam por falar um pouco sobre o convento. O cunhado de Baltasar confessa não lhe agradar muito a construção do convento, uma vez que “vêm para aí os frades fornicar as mulheres, como é costume deles…”.

Rodrigo Simão, 12.º G

Além da conversa das mulheres, são os sonhos que seguram o mundo na sua órbita. Mas são também os sonhos que lhe fazem uma coroa de luas, por isso o céu é o resplendor que há dentro da cabeça dos homens, se não é a cabeça dos homens o próprio e único céu.
Foram precisos anos para Bartolomeu ser bacharel, doutor E uma vida para aprender a voar Não há sonho que sempre dure nem pesadelo que nunca se esfume

Ir à Holanda pelo éter celeste
Ir a Mafra buscar quem casou, que com eles sonhaste a máquina de voar
Blimunda, não comas o pão São precisas vontades, que seguram as estrelas, antes de serem o ar que Deus respira A nuvem fechada irá para dentro do vidro com o âmbar
E assim, os sonhos serão, acaso parecidos, reais

[12]
Vieram da missa e estão sentados debaixo do telheiro do forno. Cai uma chuva branda por entre o sol, Outono precoce, por isso Inês Antónia diz ao filho, Sai daí, que te molhas, e a criança faz de contas que não ouve, já nestes tempos é o costume dos rapazes, enquanto não declaram desobediências mais radicais, e Inês Antónia, tendo dito uma vez, não insiste, se ainda há três meses lhe morreu o mais novo, para que há de atormentar agora este, deixá-lo brincar, ali, tão feliz, a meter os pés descalços nos charcos do quintal, Nossa Senhora o defenda das bexigas que levaram o irmão.
Pedra que chegas a Mafra serás o símbolo do tão desejado! Pelas mãos vais do nosso povo calado, Que, por mais que sofra e se sacrifique, Não é valorizado…
O capítulo XII tem, como local da ação, Mafra e Lisboa. Neste, está inserido o momento em que o rei vai a Mafra inaugurar a primeira pedra do Convento e Baltasar pretende regressar a Lisboa, a pedido do Padre Bartolomeu, para ajudar na construção da Passarola. Este capítulo relaciona-se com o poema, no sentido em que o povo, apesar de muito sofrimento durante a construção do convento e no transporte da pedra até Mafra, não era valorizado, nem mesmo pelo rei, para quem as mortes causadas durante a construção eram indiferentes; só lhe interessava ter o convento pronto a tempo. Apesar de tudo, o povo encara a chegada da pedra com grande entusiasmo, até porque, na altura, qualquer acontecimento era motivo de festa. Então, neste capítulo é criticado a incapacidade de o povo encarar criticamente os factos.
Também é criticado o facto do rei não se importar com os meios nem com as vidas perdidas, apenas quer o convento construído. Baltasar e Blimunda partem para Lisboa, para ajudar o Padre Bartolomeu na construção da passarola. Esta constitui um símbolo de liberdade e igualmente de guia. Esta mantém o casal esperançoso, durante o período obscuro do trabalho na construção do convento.
Henrique Amorim, 12.º D
Mafra, 17 de novembro 1717 Meu querido diário, Nem a grande obra que aí vem me afasta este sentimento de dor! Deus me perdoe, mas aquela morte injusta, nunca me devolverá a paz! A pobreza não me incomoda, mas a morte do meu filho faz-me pensar que Deus não olha por mim… Deus me perdoe. Nesta vida de dor, medo e sofrimento se

Deus me falha, o que restará? Às vezes apetece-me transgredir, deitar fora toda a minha dor, gritar…. Valha-me Deus!
Mesmo assim, hoje foi dia grande! El-Rei D. João e toda a sua corte estiveram entre nós! Que estes sinais de grandeza nunca vistos por estas bandas e que custaram duzentos mil cruzados, sejam o presságio da merecida prosperidade que a nossa pobre e sofrida gente tanto merece! Que a grandiosa obra seja apenas o símbolo da esperança e de uma vida digna para as nossas gentes. Deus queira que se cumpra a promessa de emprego para o meu Álvaro Diogo na construção do convento.
O pai João Francisco está tão desgostoso com a partida de Baltasar e Blimunda para Lisboa, logo agora que a construção do convento trará tanto emprego para a nossa terra, mas o padre Bartolomeu não prescinde do meu irmão para a construção da passarola. Que Deus perdoe estes pecadores cheios de bondade, mas pecadores. Que nada de mal lhes aconteça, que encontrem os seus sonhos, que o seu amor os faça resistir a todas as tempestades, pois já bastante sofreu este meu pobre e bom irmão.... Que o Senhor não os castigue! O seu amor é tão genuíno, tão puro, que até o pecado se desvanece. Se a minha felicidade é impossível, neles quero ver o sol que sempre me faltará…
Em breve, voltarei a dar-te notícias e espero que esta sejam bem mais felizes. Até lá!
Inês Antónia
Constança Barroso, 12.º A
Adaptação de excerto para teatro
Personagens:
Inês Antónia, irmã de Baltasar Gabriel, sobrinho de Baltasar Álvaro Diogo, cunhado de Baltasar Baltasar Sete-Sóis Blimunda Sete-Luas
(Século XVIII, reinado de D. João V; Mafra, dia de inauguração da obra do convento/lançamento da primeira pedra.)
(Está de dia. Cai uma chuva branda por entre o sol.)
CENA I
Inês Antónia, Gabriel, Álvaro Diogo, Baltasar, Blimunda (Chegam da missa e sentam-se debaixo do telheiro do forno. Gabriel brinca descalço nos charcos do quintal.)
Inês Antónia (Olha para Gabriel, preocupada) – Sai daí, que te molhas! Gabriel (Ignora Inês Antónia e continua a brincar.)
Álvaro Diogo (Num ímpeto. Entusiasmado) – Já tenho uma promessa de trabalhar nas obras do convento real! (Volta-se para Baltasar) E tu, Baltasar, estás decidido a voltar para Lisboa? Olha que fazes mal, porque aqui não vai faltar trabalho. Não haveriam de querer aleijados, tendo tanta gente por onde escolher… Com esse teu gancho fazes quase tanto quanto os mais fazem!
Baltasar: Faria, se não é para me confortar que o dizes, mas precisamos voltar para Lisboa. (Volta-se para Blimunda que está sentada ao seu lado.) Não é, Blimunda?
Blimunda (Acena que sim com a cabeça. Levanta-se, atravessa o quintal e sai para o campo.)
CENA II
Blimunda, Baltasar (No campo)
Blimunda (Senta-se na raiz levantada de uma oliveira. Começa a chorar.)
Baltasar (Aproxima-se calmamente de Blimunda. Toca-lhe na cabeça. Preocupado.) – Que foi que viste na hóstia?
Blimunda: Vi uma nuvem fechada…
Baltasar (Senta-se no chão.)
Blimunda (Em tom de deceção) – Esperava ver Cristo crucificado, ou ressurreto em glória… E vi uma nuvem fechada…
Baltasar – Não penses mais no que viste.
78
Blimunda (Frustrada) – Penso. Como hei de não pensar, se o que está dentro da hóstia é o que está dentro do homem? Que é a religião, afinal? (Pausa) Falta-nos aqui o padre Bartolomeu Lourenço! Talvez ele soubesse explicar-nos este mistério!

Baltasar (Num tom reconfortante) – Talvez não soubesse… Talvez nem tudo possa ser explicado… Quem sabe?
(A chuva fica mais forte.)
Blimunda: Entre a vida e a morte há uma nuvem fechada.
Elvira Furtado, 12.º G
Figura 39. Convite feito por Elvira Furtado, 12.º G.
Diário de um mafrense

Mafra, 17 de novembro de 1717 – Finalmente tenho algum tempo para escrever. Desde que comecei a trabalhar nas obras do convento real, não tenho tido tempo para anotar os meus pensamentos, que têm sido muitos…
O meu trabalho é simples: eu parto a pedra grosseira que serve para os alicerces. Apesar de achar que a construção deste edifício seja um total desperdício de dinheiro, é pão garantido para anos. Digo isto, pois o povo português, ou pelo menos o de Mafra, é pobre, enquanto a corte portuguesa está mais rica do que nunca. E em vez de utilizar essa riqueza para melhorar as condições de vida do seu povo e melhorar o reino, esbanjam-no, por exemplo, no convento de Mafra. Além de ser disparatada essa ideia de construir um convento em virtude de uma promessa que o rei fizera em nome da descendência que viesse a obter da rainha, é ainda mais insensato gastar-se duzentos mil cruzados numa inauguração do convento! Não imagino quanto dinheiro terá sido gasto quando a obra acabar. Contas nunca foram o meu forte, nem do meu pai, que me ensinou tudo o que sei hoje, porém uma coisa é certa: gastar-se tanto dinheiro (que com certeza terá um fim, porque nada na vida dura para sempre) com um monumento gigantesco, com objetos dispendiosos e fúteis e encomendar tudo de fora de Portugal, obviamente só trará prejuízo. Agora não se nota, pois Portugal, ou devo dizer a corte portuguesa, está banhada em riqueza, mas se continuarem com esses hábitos, em breve o país ficará na miséria, sem saber fazer nada… Mas também quem sou eu para saber o que é certo ou errado? Sou apenas um mafrense, que sabe ler e escrever. Sou apenas um mafrense que pensa que sabe mais que as gentes da corte e que tem pensamentos fora do comum. É por isso que os escrevo aqui, longe de todos, onde estou só com as minhas ideias.
Figura 40. Marcador de livro feito por Joaquim Cardoso, 12.º B.
Joaquim Cardoso, 12.º B
[13]
Enferrujam-se os arames e os ferros, cobrem-se os panos de mofo, destrança-se o vime ressequido, obra que em meio ficou não precisa envelhecer para ser ruína. Baltasar deu duas voltas à máquina voadora, nada contente de ver o que via, com o gancho do braço esquerdo puxou violentamente o esqueleto metálico, ferro contra ferro, a provar-lhe a resistência, e era pouca, Parece-me que melhor será desmanchar tudo e começar outra vez, Desmanchar, sim, respondeu Blimunda, mas, sem que venha o padre Bartolomeu Lourenço, não vale a pena pegares no trabalho, Podíamos ter continuado em Mafra por mais um tempo, Se ele disse que viéssemos é porque não tarda aí, quem sabe se cá esteve enquanto esperávamos o dia da festa, Não esteve, não há sinais disso, Oxalá, Deus queira, Sim, queira Deus.
Neste capítulo, estão presentes as três linhas de ação: “Baltasar e Blimunda”; “Pe. Bartolomeu Lourenço de Gusmão” e “D. João V”.
Este capítulo é introduzido com a expressão de Baltasar “Enferrujam-se os arames e os ferros”, frase que expressa o pensamento desta personagem ao ver o estado da passarola após terem regressado para a quinta a pedido do Padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão. Então, Sete-Sóis decide desmontar a passarola e começar a construí-la de novo.
Baltasar e Blimunda, orientados pelo padre Bartolomeu, trabalham conjuntamente na passarola. Baltasar ocupa-se de construir a forja e o fole e Blimunda vai recolhendo vontades- “Quantas vontades recolheste até hoje, Blimunda, perguntou o padre nessa noite, quando ceavam, Não menos de trinta, disse ela, É pouco”. O padre Bartolomeu estima que sejam necessárias pelo menos duas mil vontades para fazer a passarola voar.
Chega o mês de junho, mês da procissão do Corpo de Deus, e todos estão ansiosos pela saída da procissão. Blimunda, mesmo de jejum, não pode ir recolher vontades pois é “tempo de lua nova”. Esta circunstância traduz a força vital que é representada pelas vontades recolhidas por
Blimunda para fazer voar a passarola, sendo que ela só consegue ver o interior das pessoas em jejum e na ausência da lua nova.
Este capítulo decorre no espaço físico de Lisboa, como se vê pelo excerto “Em Lisboa ninguém dormiu…”, mais especificamente no Terreiro do Paço: “só no Terreiro do Paço, aberto para o rio e para o céu, é azul nas sombras…”.
Quanto ao espaço social, assistimos à preparação e à realização da procissão do corpo de Deus (ainda de madrugada com as pessoas a dirigirem-se para as alas da procissão), momento emblemático para conhecer sociedade da época e a vivência da religião durante o século XVIII. O narrador assume o olhar do povo e começa por descrever os preparos da festa, nos dias que antecedem a procissão do corpo de Deus (“Por trás das janelas acabam as damas de armar os penteados, enormes fábricas de luzimentos e postiços”: presença da metáfora), e simultaneamente pessoas dançam e cantam nas ruas. De noite, foi improvisada uma tourada e, de madrugada, reuniram-se os elementos da procissão. No final, estão presentes como decoração as 24 bandeiras dos ofícios, a imagem de são Jorge, o estandarte do santíssimo Sacramento, as comunidades conventuais.
O narrador tem uma visão subjetiva e interventiva. Por isso, censura o luxo da igreja e do rei e critica a histeria coletiva das pessoas que batem em si próprias, como forma de castigo e penitência, e nos outros, para mostrarem a sua manifestação quanto às suas condições como pescadores.
Resumindo, neste capítulo, ficamos a saber que, embora o sonho de voar seja do padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão, são os esforços de Baltasar e Blimunda que o tornam possível com o passar do tempo, quer pelo trabalho braçal de Sete-Sóis, quer pela recolha das vontades de SeteLuas. Com a realização da procissão, ocorre uma transformação na cidade de Lisboa, quando os habitantes tentam ao máximo torná-la mais limpa para as pessoas que vão assistir aos festejos.
Afonso Pimentel, 12.º A
82
Neste momento do Memorial do Convento, de José Saramago, Baltasar e Blimunda voltam para a quinta a pedido do Padre Bartolomeu Lourenço para prosseguir a construção da passarola.

Quando chegam à quinta, encontram a máquina voadora em mau estado e concordam em reconstruí-la quando o Padre voltar. Também sabemos que, embora o sonho de voar seja da autoria do Padre Bartolomeu Lourenço, são os esforços, a dedicação de Baltasar e Blimunda que o tornam possível com a passagem do tempo.
Por outras palavras, os ricos fazem sempre o dinheiro trabalhar para eles e os pobres têm de trabalhar pelo dinheiro. José Saramago mostra isso muito bem na escrita do Memorial do Convento, porque o povo vivia pobre e faminto, pois o povo faria tudo para ter comida nessa época. Note-se que o Pe. Bartolomeu Lourenço também podia ter ajudado mais na construção da “nau voadora”, mas Blimunda e Baltasar fizeram a parte mais difícil. Ou seja, as pessoas costumam esperar que os outros realizem os seus trabalhos para não fazerem o que tem de ser feito.
Em segundo lugar, por causa da realização da procissão, ocorre uma transformação na cidade de Lisboa e, por isso, os habitantes tentam ao máximo torná-la mais limpa e “apresentável” às pessoas que vão assistir. Por conseguinte, o Padre encomenda a Blimunda a tarefa de recolher duas mil vontades dos homens e mulheres e a Sete-Sóis ir comprar ferro e foles, a fim de conseguir o que pretende: voar.
Em síntese, a tríade está a caminhar no seu sonho de voar, por meio da construção da passarola.


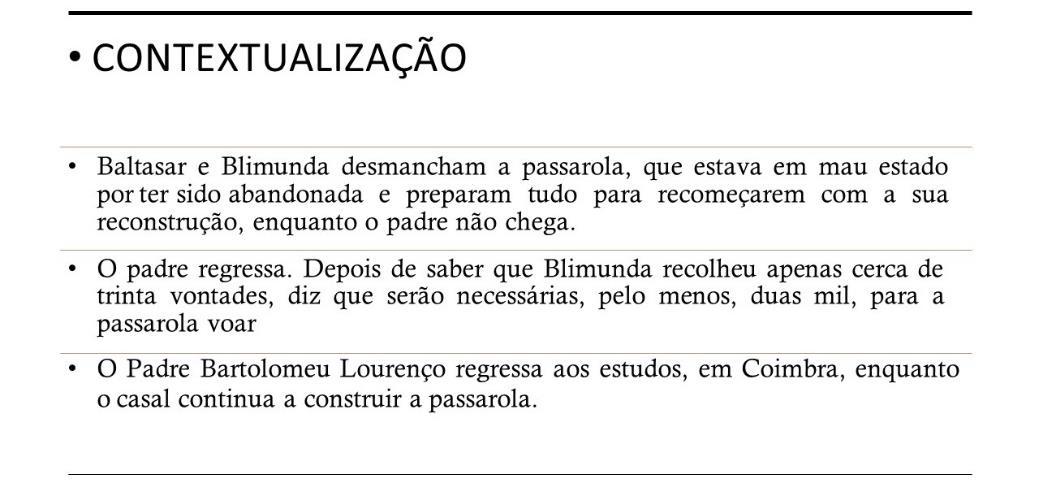






Figura 42. Apresentação elaborada por Mafalda Vilão, 12.º D.



Já o padre Bartolomeu Lourenço regressou de Coimbra, já é doutor em cânones, confirmado de Gusmão por apelativo onomástico e firma escrita, e nós, quem somos nós para nos atrevermos a taxá-lo do pecado de orgulho, maior bem nos faria à alma perdoar-lhe a falta de humildade em nome das razões que deu, assim possam ser-nos perdoados os nossos próprios pecados, esse e outros, que ainda o pior de tudo não será mudar de nome, mas de cara, ou de palavra.
Figura 43. Ilustração alusiva à trindade terrestre e a Scarlatti, feita por Sara Areias, 12.º A. Chegado a Lisboa, recém-formado em Cânones, Bartolomeu Gusmão foi morar no Paço, para casa de uma viúva que perdera o seu marido

89
numa rixa ainda durante o reinado de D. Pedro II, pai de D. João V. Para Baltasar e Blimunda, o Voador continuava o mesmo de sempre, a feição e o falar estavam iguais, o nome também, porém, El-Rei fê-lo fidalgo capelão e académico, títulos que não combinavam com o seu ser.
Convidado por D. João V a assistir a uma aula de cravo da pequena Infanta Maria Bárbara, o padre finalmente conhece Domenico Scarlatti, músico italiano vindo de Londres intencionalmente para dar aulas de cravo à menina. No final dessa aula, já só na presença de Bartolomeu Gusmão, Domenico dedilha o cravo deixando o padre arrebatado com as suas harmonias. Ambos criam uma empatia amigável e Bartolomeu Gusmão convida o músico a ir até São Sebastião da Pedreira para conhecer a sua passarola.
Cada um na sua mula, cavalgaram até ao seu destino e, ao lá chegarem, o padre vendou o músico, pois “Só de olhos vendados se chega ao segredo”. Ao retirar a venda, o italiano admirou a ave gigante e afirmou que nenhuma ave podia voar sem bater asas e Bartolomeu Gusmão respondeu-lhe que o segredo do voo não estava nas asas.
Entretanto, apareceu Blimunda com uma cesta de cerejas, os quatro sentaram-se e o padre explicou ao músico o funcionamento da passarola, que só voaria se Blimunda conseguisse duas mil vontades de homens e mulheres, que, com o âmbar e o éter, sob a luz do sol, fariam voar o sonho quimérico do padre. Antes de partir, o músico ofereceu-se para trazer o cravo e tocar para o casal que tão bem o acolheu.
No final da ceia, após Scarlatti partir, o padre começou a ensaiar o seu sermão e os três discutiram sobre Deus uno e trino e a relação DeusHomem. A moça acaba por adormecer no ombro de Baltasar, que a leva para o quarto, e o padre permanece no pátio toda a noite e ali ficou, contemplando, de pé, o céu e “murmurando em tentação”.
Sara Areias, 12.º A
A música como linguagem universal
No capítulo XIV de Memorial do Convento de José Saramago, é descrita uma noite em Lisboa onde Domenico Scarlatti se senta a tocar o cravo e, por entre frinchas e chaminés, a sua música sai para a noite lisboeta. Esta música, tocada pelo italiano, tanto a entendem os portugueses, como a entendem os alemães e tanto a apreciam os ricos, como os vadios que se acoitam na Ribeira.
A música é uma maneira de comunicar universal, e o seu papel no mundo é importantíssimo e a sua influência na mentalidade da população, principalmente mais jovem, é notável. Tome-se como exemplo o Rock n Roll, que, quando surgiu, nos anos 50, influenciou os jovens, principalmente nos EUA, a rebelar-se, num sentido positivo e a defender uma causa de “paz e amor”. Mesmo analisando o nosso país, quando pensamos na revolução de 25 de abril de 1974, é habitual associá-la à canção de Zeca Afonso, “Grândola Vila Morena”, pois tal como a letra da música sugere, foi nesse dia que passou a ser o povo a ordenar em Portugal e, mesmo com alguns defeitos, instaurou-se em Portugal o regime político mais justo, a democracia.
Outra situação que nos faz perceber a universalidade da música é a dimensão dos festivais de música que juntam pessoas de todo o mundo. Estas pessoas, apesar de terem culturas completamente diferentes e muitas vezes nem falarem a mesma língua, juntam-se para ouvir a mesma música e, através desta, entendem-se perfeitamente. Como exemplo destes festivais, temos o Tomorrowland, o Coachella, ou a Eurovisão. No festival da Eurovisão de 2017, Salvador Sobral ganhou, com a música Amar pelos dois, e é interessante ver como a maioria das pessoas que ouviram a sua música, mesmo não percebendo nada de português, ficaram emocionadas ao ouvi-la e perceberam que era uma música romântica e triste.
Em suma, a música teve um papel importantíssimo na história da humanidade e é, de facto, uma maneira de as pessoas comunicarem, sem a necessidade de verbalizar uma única palavra.
Pedro Melo Alves, 12.ºBMeses passados, um frade consultor do Santo Ofício, na sua censura ao sermão, escreveu que, por tal papel, se ficavam a dever ao autor mais aplausos que sustos, mais admirações que dúvidas.
Blimunda, a grande mulher do povo
No capítulo XV de Memorial do Convento, de José Saramago, o tema que destaquei foi a personagem Blimunda, a mais conhecida e fascinante mulher da ficção deste autor.
Esta é uma jovem trabalhadora e dedicada aos afazeres da casa, da horta e vive um grande amor e companheirismo com Baltasar, que, apesar de viverem esse amor à margem da igreja, são abençoados pelo padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão.

São apresentadas pelo autor as qualidades humanas de humildade, perseverança e determinação numa mulher do povo com poderes sobrenaturais. Como tal, a figura desta jovem é muito importante, porque é através da recolha das duas mil “vontades”, que será possível a passarola voar para o céu, concretizando o sonho do padre Bartolomeu de Gusmão.
Figura 44. Marcador de livro elaborado por Leonor Sousa, 12.º A.
O Nobel da Literatura, através desta personagem, trata as grandes dúvidas e inquietações do ser humano, em relação ao amor, ao pecado e à existência de Deus. Blimunda representa, por isso, a vida do povo por
ser verdadeira e viver de forma livre. José Saramago revela que a felicidade, o amor e a liberdade não estão ligados ao facto de ser rico ou nascer nobre.
Posso concluir que esta é uma personagem crucial no decorrer do capítulo pelo papel que desempenha, enfrentando as dificuldades da vida e da doença, para alcançar o seu objetivo e corresponder ao que lhe é esperado. É, aliás, emblemática de toda a obra literária Saramaguiana. Deste modo, apesar da vida simples e muito pobre que Blimunda vive, élhe dado o direito ao amor, à liberdade e à felicidade.
Leonor Sousa, 12.º A
92
 Figura 45. Desenho sobre a passarola e Baltasar e Blimunda, feito por Rafaela Nogueira e Madalena Lima, 12.º E.
Figura 45. Desenho sobre a passarola e Baltasar e Blimunda, feito por Rafaela Nogueira e Madalena Lima, 12.º E.
de COVID-19
A pandemia de COVID-19, também conhecida como pandemia de coronavírus SARS-COV-2, é uma doença respiratória que pode causar infeção respiratória grave. Este vírus foi identificado pela primeira vez em humanos, em dezembro de 2019, na cidade chinesa de Wuhan. A Organização Mundial da Saúde (OMS) atribuiu este nome, pois resulta das palavras “Corona”, “Vírus” e “Doença” e 2019, ano em que surgiu.
Em 20 de janeiro de 2020, a OMS classificou o surto como Emergência de Saúde Pública de Âmbito Internacional (ESPAI) e, em 11 de março de 2020, como pandemia. Em 15 de maio de 2022, 521 059 204 casos foram confirmados em 192 países e territórios, com 6 263 115 mortes, tornando-se uma das pandemias mais mortais da história.
Quanto aos sintomas mais frequentes, destacam-se: febre, tosse, dores de cabeça ou dores generalizadas do corpo, dificuldade respiratória e perda total ou parcial do olfato e paladar. Em casos mais graves, pode levar a uma pneumonia grave com insuficiência respiratória aguda, falência renal e de outros órgãos, e eventual morte.
O vírus transmite-se principalmente pelo ar. Uma pessoa fica infetada quando alguém doente tosse, espirra ou fala junto dela. Também pode espalhar-se pelo contacto das mãos com uma superfície contaminada.
As medidaspreventivas incluem distanciamento social, uso de máscara, ventilação do ar, lavagem das mãos e desinfeção de superfícies. Várias vacinas foram desenvolvidas e distribuídas pelo mundo.
É a sexta vez na história que uma ESPAI é declarada. De referir: 2009, pandemia H1N1; 2014, disseminação de poliovírus; 2014, surto de Ébola na África Ocidental; 2016, vírus zika e 2018, surto de Ébola na República Democrática do Congo.
No entanto, convém referir que a febre-amarela constituiu um flagelo para a humanidade nos séculos XVII a XX. Esta doença está relatada no capítulo XV, da obra literária Memorial do Convento, de José Saramago, uma vez que a região de Lisboa foi fustigada, em 1723, por este surto epidémico, em que morreram muitas pessoas: “[…], está Lisboa atormentada de uma grande doença, morrem pessoas em todos as casas […], mas, sobre a doença, pelos sinais que dá, é vómito negro ou febre amarela”.
Esta doença teve sintomas semelhantes aos da COVID-19 e outros mais graves, como hemorragias, designadamente gástrica, como é o caso do chamado vómito negro. Paralelamente, verificaram-se dois sintomas alarmantes: a anúria e a icterícia. Esta doença levava, muitas vezes, em poucos dias, à morte, precedida de delírio e estado de coma. Resumindo, todas estas pandemias têm levado à instabilidade social e económica e têm constituído umgrande desafio para a medicina, no que respeita ao conhecimento das doenças e ao seu modo de transmissão. Porém, todos os povos têm tido a capacidade de ultrapassar com resiliência estas adversidades da vida, adaptando-se às novas realidades.

Webgrafia: Pandemia de COVID-19. (2022, maio 20). Wikipédia, a enciclopédia livre. Consultado a 20:10, 20 de maio 2022. Disponível em https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Pandemia_de_COVID19&oldid=63629377 .
“COVID-19”, SNS. Consultado a 15 de maio de 2022. Disponível em https://www.sns24.gov.pt/tema/doencas-infecciosas/covid-19/ Barata, L. (2020). “As Epidemias e as Pandemias na História da Humanidade” in news@fmul, nº 99. Consultado a 14 de maio de 2022. Disponível em https://www.medicina.ulisboa.pt/newsfmulartigo/99/epidemias-e-pandemias-na-historia-da-humanidade
“Sabe quais os sintomas associados ao COVID-19?”. Consultado a 15 de maio de 2022. Disponível em https://www.cm-benavente.pt/informacoes/noticias/item/3795-sabe-quais-os-sintomasassociados-ao-covid-19
“Histórico da pandemia de COVID-19”, in OPA/OMS. Consultado a 15 de maio de 2022. Disponível em https://www.paho.org/pt/covid19/historico-da-pandemia-covid-19 Pascoal, M et al. “Perguntas e respostas sobre febre amarela” in Blog da Saúde – Ministério da Saúde (Brasil). Consultado a 15 de maio de 2022. Disponível em http://www.cpqrr.fiocruz.br/pg/perguntas-e-respostas-sobre-febre-amarela/ Rodrigo Costa, 12.º B
94
Figura 46. Fotografia elaborada por Rodrigo Costa, 12.º B.Dizem que o reino anda mal governado, que nele está de menos a justiça, e não reparam que ela está como deve estar, com sua venda nos olhos, sua balança e sua espada, que mais queríamos nós, era o que faltava, sermos os tecelões da faixa, os aferidores dos pesos e os alfagemes do cutelo, constantemente remendando os buracos, restituindo as quebras, amolando os fios, e enfim perguntando ao justiçado se vai contente com a justiça que se lhe faz, ganhado ou perdido o pleito.
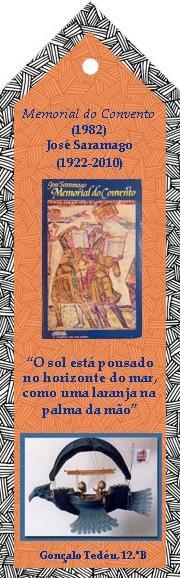


Inventor ou Herético?
Em entrevista: Padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão
Na passada semana, tivemos a oportunidade única e rara de entrevistar o padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão, ilustre sacerdote e inventor, devido à sua peculiar opinião sobre a Inquisição e à sua inovadora invenção, de que já se fala aquém e além-fronteiras.
Entrevistador: Boa tarde, Reverendo Bartolomeu Lourenço. Fui informado, há alguns dias, que possui uma opinião um pouco distinta quando comparada com a das pessoas do reino sobre o Santo Ofício. O que acabo de afirmar é verdade?
Pe. Bartolomeu Lourenço de Gusmão (BLG): Boa tarde, antes de mais, agradeço o convite para esclarecer estas confusões que se têm gerado. Penso que esteja a fazer a pergunta da forma errada. Eu não tenho uma visão da Santa Inquisição diferente da maioria das pessoas, a diferença é que eu digo publicamente o que todos pensam e não têm coragem para dizer. Já agora, diga-me porque afirma tal coisa sobre a minha pessoa.
Entrevistador: Antes de falar consigo, falei com alguns populares, os quais me disseram que aquiesce com a seguinte blasfémia: “Dos julgamentos do Santo Ofício não se fala aqui, que esse tem bem aberto os olhos, em vez de balança um ramo de oliveira, e uma espada afiada onde a outra é romba e com bocas”. Será que me poderia explicitar esta afirmação, caro reverendo?
BLG: Por casualidade, essa sua pesquisa que fez, antes de vir falar comigo, está errada. Eu nunca afirmei tal declaração. Ou não falou de verdade com alguém e está a tentar incriminar-me, ou então já não gostam de mim e querem-me ver a arder… mas, se muito desejar, até lhe posso explicitar a afirmação.
Entrevistador: Sim, se puder!
BLG: Sobre o raminho, algumas pessoas pensam que é uma oferta de paz, mas estão muito enganadas, pois trata-se do primeiro graveto da futura pilha de lenha. Relativamente ao resto dessa afirmação, quem
96
comete crimes, mas tem “padrinhos” e riqueza para colocar na balança é perdoado. No entanto, os negros e os vilões que não fizeram nenhum crime, mas foram difamados, são o “bode expiatório” e, não possuindo o suprarreferido, são julgados injustamente…
Entrevistador: Mas, Pe. Bartolomeu, como pode lançar tais boatos, sendo que o Santo Ofício pertence à nossa própria religião e, ao contrário do que diz, ajuda a manter a estabilidade e a justiça no nosso reino?
BLG: Meu caro, cada um acredita no que quer. A verdade por vezes está à nossa frente e, mesmo assim, teimamos em não a aceitar. Isto é simplesmente o que a maioria das pessoas pensa e também um pouco do que eu penso. Muito provavelmente, quando a sua entrevista sair, irei ser perseguido e, às tantas, julgado, mas daqui a uns anos haverão de me dar razão.
Entrevistador: Mudando de assunto, será que me poderia falar da sua invenção, da conhecida “passarola”?
BLG: Desculpe, mas isso eu não posso. A “passarola” ainda não foi mostrada ao mundo e, por isso, ainda não lhe posso revelar detalhes da mesma…
Entrevistador: Mas Pe. Bartolomeu, já ouvi por aí dizer que a “passarola” é feita de âmbar. Será que não podia só explicar para que serve o âmbar?
BLG: As bolas de âmbar são atraídas pelo sol, o que permite que a máquina voe. Mas mais não lhe posso, ainda, explicar sobre o funcionamento da “passarola”!
Entrevistador: Mas como é que elas são atraídas pelo sol? E como é que fazem o aparelho voar?
BLG: Tal como lhe tinha dito, não me pronuncio mais acerca deste assunto!
Entrevistador: Padre Bartolomeu Lourenço, de que é que tem medo?
BLG: Do Santo Ofício! Não é pecado, que eu saiba, nem heresia, querer voar… Ainda há quinze anos voou um balão no paço e daí não veio nenhum mal... Um balão é nada! Voe agora a máquina e talvez o Santo Ofício considere que há arte demoníaca nesse voo... Eu sei que
não é contra a Inquisição, porque já se voou, mas eu sei lá o que vai na cabeça deles… A minha sorte é ainda ser protegido de el-Rei…



Entrevistador: Só mais uma pergunta…

BLG: Não, obrigado! Já estou atrasado para o meu compromisso, mas muito obrigado pela sua colaboração! Parece-me que voar irá ser normal daqui a 200 anos!



Gonçalo Tedéu, 12.º B
98
 Figura 48. Apresentação de Madalena Lima e Rafaela Nogueira, 12.º E.
Figura 48. Apresentação de Madalena Lima e Rafaela Nogueira, 12.º E.
Figura 49. Fotografias a partir do voo da passarola, por Claúdia Faria, 12.º A.
Neste capítulo XVI de Memorial do Convento, de José Saramago, o narrador comenta fortemente a governação do reino, criticando a justiça, onde o poder e a riqueza se impõem-se aos menos favorecidos.
Deste modo, o capítulo começa com uma crítica do narrador ao reino, “Dizem que o reino anda malgovernado”, mostrando-nos a denúncia que faz às injustiças sociais, à omnipotência dos poderosos e à exploração do povo.
Seguidamente, o rei perde as suas duas casas para o Duque de Aveiro, incluindo a quinta de S. Sebastião da Pedreira, onde estava a “Passarola”. Ao mesmo tempo em que ocorre este processo de perda, a máquina fica pronta. Certo dia, o Padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão chegou, pálido e assustado, e disse que necessitava fugir, pois o Santo Ofício

andava à sua procura para o prender, querendo este fugir na Passarola e, assim, partem Blimunda, Baltasar e o Padre pelos ares
Quando pousam, o padre Bartolomeu Lourenço, num ato de desespero, incendeia a máquina: «Está doente o padre Bartolomeu Lourenço, não parece o mesmo homem» (página 207). Todavia, Blimunda e Baltasar conseguem salvar a passarola, mas o padre desaparece. Voltam, depois, a Mafra.
Este desenho, de autor desconhecido, é a recriação de uma imagem muito conhecida feita pelo Conde de Penaguião em 1784 e retrata a passarola a voar com o padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão num dia de céu azul.
Observamos, em primeiro plano, a Passarola a voar com o Padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão. Em segundo plano, vemos o céu, as nuvens e alguns pássaros a voar livremente.
No caso da passarola, esta simboliza a harmonia entre o sonho e a sua realização, o desejo de liberdade juntamente com o facto de o céu estar azul com pássaros a voar livremente, que transmite uma sensação de paz. Blimunda – que é indispensável, pelo romance, para que a passarola voe – representa o elemento mágico já que possui poderes sobrenaturais que lhe permitem compreender a vida, a morte, o pecado e o amor. Através dela, o narrador tenta entrar dentro da história da época e denunciar os excessos da corte, as perseguições e injustiças da Inquisição, a miséria e as diferenças sociais. Concluindo, esta é uma imagem significativa por ilustrar a resolução da incógnita associada à passarola: se conseguiria voar ou não. Esta, por si própria, está carregada de simbologia, relativamente ao alcance da liberdade e à realização do sonho, e o seu primeiro voo concretiza esse simbolismo.

Webgrafia: “Passarola”, consulado a 12 de maio de 2022. Disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/Passarola
100
“Capítulo XVI”, consultado a 12 de maio de 2022. Disponível em http://memorialdoconventoemensagem.blogspot.com/2011/06/capitulo-xvi.html
Resumo dos capítulos de Memorial do Convento. Consultado a 12 de maio de 2022. Disponível em https://www.coursehero.com/file/p4djtaqk/come%C3%A7o-da-hist%C3%B3ria-o-tempo-quese-passou-pode-ser-contado-nove-anos-Mostrada-a/ (consultado a 04.05.2022)
Claúdia Faria, 12.º A
Figura 50. Fotografias de Cláudia Faria, 12.º A.
A obra de José Saramago, Memorial do Convento, publicada em outubro de 1982, é um romance que se desenrola no século XVIII, entre 1711 e 1739, ou seja, prolonga-se durante 28 anos. Tem como tempo histórico o reinado de D. João V, coincidindo com a construção do Convento de Mafra. Entre as suas linhas de ação principais, estão a história de amor entre Baltasar e Blimunda, para além da construção da Passarola (realização de um sonho).

Esta obra é caracterizada pela presença de personagens históricas, como a família real, e personagens do povo, deste modo, podemos analisar o contraste entre as duas realidades. Presentes neste capítulo e ao longo da obra, encontramos Baltasar Mateus (Sete-Sóis), Padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão, e Blimunda de Jesus (Sete-Luas).

Baltasar é uma personagem fictícia, homem jovem, ex-soldado (perdeu uma mão na guerra), é conhecido por ser simples, fiel, honesto e humilde, além de viver com naturalidade. Padre Bartolomeu (personagem histórica) tinha como sonho construir uma máquina voadora, acabando por elaborar a passarola com a ajuda de Blimunda e Baltasar: “Deus ele próprio, Baltasar seu filho, Blimunda o Espírito Santo, e estavam os três no céu”. Este apresentava um espírito científico e futurista. Blimunda (personagem fictícia) é caracterizada como uma mulher firme que vive com naturalidade e fisicamente tem olhos claros. Além destes personagens, temos presente Domenico Scarlatti (personagem histórica), um músico e compositor italiano que salva Blimunda de uma doença com a sua música, e com o som do seu cravo vai cativar o padre e acompanhar o processo de construção da passarola.
O início do capítulo XVI serve de crítica à forma como se faz justiça no reino e também da sua governação (“Dizem que o reino anda malgovernado, que nele está de menos a justiça”), uma vez que quem tem um nível social mais elevado acaba por sair ileso dos crimes que comete, enquanto aqueles mais infortunados acabam sempre condenados. De seguida, são-nos mostradas justiças “invisíveis”, como, por exemplo, quando o barco em que D. Francisco e D. Miguel naufragou e morreram num trágico acidente. Consecutivamente, o rei perde duas casas para o Duque de Aveiro (“Afinal, sempre há justiça neste mundo, e por causa de haver ela vai ter agora el-rei de restituir ao duque de Aveiro todos os bens […]”), incluindo a casa onde se encontrava a Passarola (Quinta de S. Sebastião da Pedreira), que acabara de ser finalizada.
A passarola já estava pronta a voar, mas Blimunda e Baltasar encontravam-se preocupados, porque não demoraria e os trabalhadores do Duque de Aveiro iam tomar posse da sua quinta. Por outro lado, o padre encontrava-se apreensivo com o Santo Ofício (“Padre Bartolomeu Lourenço, de que é que tem medo, e o padre assim interpelado diretamente, estremece, levanta-se agitado, vai á porta olha para fora, e, tendo voltado, responde em voz baixa, do Santo Ofício”), temendo ser acusado de feitiçaria e de ser judeu, isto porque aos olhos da Inquisição a Passarola era algo punível por nela conter “arte demoníaca”. O Padre Bartolomeu aguardava a visita de D. João V para testar a sua máquina
102
voadora, mas o tempo foi passando e o rei nunca compareceu. Já era outono (“Agosto acabou, setembro vai em meio […]”), dias mais frios e ventos fortes, algo nada benigno sendo que era mais favorável a passarola voar com sol. O tempo foi passando e o Santo Ofício começou a procurar Bartolomeu Lourenço, como se pode ler em “Temos de fugir, O santo Ofício anda à minha procura, querem prender-me, onde estão os frascos”. Este comunicou aos seus companheiros Baltasar e Blimunda que tinha de fugir o mais rápido possível. Com isto tentaram elaborar um plano para solucionar este problema (voar na passarola): “Vamos fugir nela, para onde, não sei, o que é preciso é fugir daqui”. Baltasar e Blimunda pretendiam regressar a Mafra, contudo, o padre recusou e achou melhor fugirem na “máquina voadora”.
De certo modo, a passarola faz o seu voo de batismo sem destino, deixando para trás o cravo de Domenico Scarlatti. Já a bordo conseguiam avistar a cidade de Lisboa: “Devagar, a terra aproxima-se, Lisboa distingue-se melhor, o retângulo torto do Terreiro do Paço, o labirinto das ruas e travessas […]”. Scarlatti, que chegara a tempo de ver a passarola voar, sentou-se diante do cravo e tocou uma música (“que indo Domenico Scarlatti à quinta, viu, já chegando perto, levantar-se de repente a máquina”, “esta que faz sentar-se Domenico Scarlatti ao cravo

e tocar um pouco”). O músico tinha noção que era perigoso deixar ali o cravo, então abandonou-o num poço da Quinta de S. Sebastião da Pedreira. Porém, durante a viagem, surgiram vários contratempos devido ao vento e, ao cair da noite, a máquina começara a perder a altitude: “o sol se puser, descerá irremediavelmente a máquina”. Baltasar avista Mafra e conseguem visualizar as obras do convento: “É Mafra, além, grita Baltasar, parece o gajeiro a bradar do cesto da gávea, Terra, nunca comparação alguma foi tão exata, porque esta é a terra de Baltasar, reconhece-a mesmo nunca a tendo visto do ar”. O povo avista a máquina a voar e demonstra diversas atitudes, ignorância ao atirar pedras ou rezar. Eles acabaram por aterrar sem ferimentos numa serra em terra firme: “sustentando com as suas nuvens fechadas a máquina que baixava, agora devagar que mal rangeram os vimes quando tocou no chão”. No entanto, não dormiram muito e encontravam-se exaltados com toda a situação. O padre não estava confiante e continuava com medo de que a inquisição os encontrasse, assim, tenta incendiar a passarola, sendo impedido por Baltasar e Blimunda: “havia um clarão como se o mundo estivesse a arder, era o padre com um ramo inflamado que pegava fogo á máquina”. Conseguiram salvar a passarola, mas o padre fugiu para a mata: “Afastou-se para as bandas que ficavam da banda o declive […] O tempo passava, o padre não reaparecia.” Com medo de que a passarola fosse descoberta, cobrem-na com ramos e vão para Mafra. Duraram dois dias a chegar ao seu destino, seguindo em procissão em honra do Espírito Santo/passarola: “Levaram dois dias a chegar a Mafra, depois de um largo rodeio, por fingimento de que vinham de Lisboa. Andava procissão na rua, todos dando graças pelo prodígio que fora Deus servindo fazer”. Ao longo deste capítulo, o autor introduz alguns recursos expressivos, como por exemplo a metáfora (anacronismo): “[…] mas lá estão as quatro paredes de abegoaria, o aeroporto donde levantaram voo”; a personificação, presente em “gemem desencontradas as cordas, agora sim se desacertarão”; e a repetição, em “Passam velozmente sobre as obras do convento, mas desta vez há quem os veja, gente que foge espavorecida, gente que se ajoelha ao acaso e levanta as mãos implorativas de misericórdia, gente que atira pedras […]”.
104
Figura 52. Tela com a passarola sobrevoando o Terreiro do Paço, pintada por Diana Dutra, 12.º G.

O espaço físico deste capítulo dá-se em diversas localizações: em Lisboa (Quinta de Sebastião da Pedreira), na Serra de Barregudo e em Mafra. Por outro lado, o espaço psicológico é a ação da Inquisição e a concretização do sonho da passarola. O espaço social dá-se na procissão (crendice do povo). Neste capítulo, o narrador, quanto à posição, é subjetivo e quanto à presença é heterodiegético, ou seja, não é personagem da história. Em suma, o capítulo “materializa os agentes do progresso, e simboliza a perfeição e a sabedoria do homem que possui vontade e fé para superar as suas limitações. Para além disso também traduz a trágica dimensão da vida, anunciada na tentativa do padre em pegar fogo à máquina e na sua posterior loucura. Conduz uma tentativa de luta contra as formas de inflexibilidade e perseguição (Símbolo da Passarola)” (Marques, 2009).
Fontes consultadas:
Marques, Isabel (29.05.2009), “Simbologia de Memorial do Convento”. Disponível em https://esjapportugues.blogs.sapo.pt/, consultado a 15 de maio de 2022.
Diana Dutra, 12.º G
Figura 53. Palavras cruzadas sobre o capítulo em questão, elaboradas por Maria Paim e Paulo Pimentel
Soluções: 1. Blimunda; 2. Saramago; 3. Passarola; 4. Desaparece; 5. Inquisição; 6. Filosofia; 7. Justiça; 8. Bartolomeu; 9. Baltasar.


[17]
Vivemos em tempo que qualquer freira, como a mais natural coisa do mundo, encontra no claustro o Menino Jesus ou no coro um anjo tocando harpa, e, se está fechada em sua cela, onde, por causa do segredo, são mais corporais as manifestações, atormentam-na diabos sacudindo-lhe a cama, e assim lhe abalando os membros, os superiores em modo de lhe agitarem os seios, os inferiores tanto que freme e transpira a fenda que no corpo há, janela do inferno, se não porta do céu, esta por estar gozando, aquela porque gozou, e em tudo isto se acredita, porém, não pode Baltasar Mateus, o Sete-Sóis, dizer, Eu voei de Lisboa ao Monte Junto, tomá-lo-iam por doido, e vá com muita sorte, por tão pouco não se inquietaria o Santo Ofício, é o que por aí não falta, loucos varridos em terra que a loucura varreu. Dos dinheiros do padre Bartolomeu Lourenço tinham vivido Baltasar e Blimunda até agora, juntando-lhes as couves e o feijão da horta, um pedaço de carne enquanto foi tempo dela, sardinha salgada quando não chegava fresca, e quanto se gastasse e comesse era muito menos para sustentar o corpo próprio que para alimentar o crescimento da máquina voadora, se então realmente acreditavam que ela voaria.
Viver “à bom” português
Ser português é mais complicado do que parece. Ser português envolve, entre outras coisas, ser aquele que bebe cerveja como se fosse água, aquele que é o último a chegar e o primeiro a sair do trabalho, contudo é o primeiro a chegar e o último a sair da festa de freguesia… mas mais do que tudo isto, ser português é, num grupo de trabalho de cinco pessoas, fazer parte dos quatro que estão a olhar para o único que trabalha. Ser português é uma arte.
Seria preciso um milagre para que tal não acontecesse, ou por que razão é que demoram tanto as obras no nosso país? Todavia, isso não altera o facto de que o número de trabalhadores empregados seja elevado, algo que posso verificar sempre que têm de levantar a calçada da cidade. Aí, no dizer de Saramago (Memorial, cap. 17): “É um formigueiro de gente que acorre de todos os lados, se tudo isto veio para trabalhar, então mordo a língua, falei antes do tempo.”
Falo do caso das obras, porque todas as semanas, ao longo dos dias, passo pela obra da antiga casa do reitor do seminário de Angra do Heroísmo, que muita gente lá tem a trabalhar. No entanto, desta vez, do “grupo de cinco” todos devem ser portugueses, já que a obra permanece quase igual desde o seu início e, sempre que por lá passo, vejo-os olhando uns para os outros. Não obstante tudo isto, o que ainda me preocupa mais é a falta de sentido de oportunidade e de saber atribuir prioridades nos diferentes contextos vivenciados no quotidiano de um português. Pegando ainda nesta obra, é possível observar-se a prioridade que os portugueses dão aquilo que é secundário, tendo em conta que, em vez de se preocuparem a recuperar com o devido cuidado o antigo e robusto edifício de tão bonita cantaria e altas portas, decidiram construir primeiro uma grande piscina por trás, que ainda obrigou a uma fina parede de betão, agora existente ao longo e com a mesma altura do edifício. Completamente dentro de contexto até diria!
Posto isto, resta-me saber até que ponto é que tudo isto pode chegar e, face a uma boa reflexão, chego à conclusão de que vai mais longe do que se pode imaginar. Basta pensar na vez em que uma professora nos disse que gostava do seu trabalho, porque se se sentisse mais cansada num dia, podia simplesmente ir para a aula conversar com os seus alunos

e continuava a receber o mesmo no fim do mês. O cúmulo da falta de oportunidade!
E a questão é exatamente essa: até que ponto é que a arte de ser português pode chegar? E até que ponto é que queremos afixar este rótulo que temos com mais pregos?
João Cunha, 12.ºBEntrevista a Blimunda
Entrevistador: Bom dia, Blimunda. Gostaria de entrar já nos tópicos da nossa conversa. Sei que lida muito com a morte na sua vida, visto que pessoas bastante importantes para si já faleceram e que tem o dom de recolher vontades, no momento que antecede à morte. Como consegue suportar essa dor?
Blimunda: Bom dia. Respondendo à sua questão, é evidente que não é fácil; é uma questão que não se torna mais leve com o tempo. Tento ser forte, pois tenho Baltasar comigo, a sua vontade… As dos outros… Como disse: é um dom. Não posso evitar… As suas vidas pesam-me, mas é a minha missão…
Entrevistador: Colaborou num projeto bastante original; que projeto era esse, o da passarola?

Blimunda: A passarola era um sonho de voar do Padre Bartolomeu, que pediu ajuda ao meu Baltasar, para a sua construção; eu fiz parte desse projeto, indo recolher a Lisboa vontades é que afariam voar. Aliás, é a vontade do Homem que faz avançar qualquer projeto. Também inspecionava a máquina regularmente, para me certificar de que tudo estaria bem.
Entrevistador: Que ideia original, a das 2000 vontades… Pode explicar isso melhor?
Blimunda: Ah, pois… Antes, era um segredo que guardava para mim, pois a sociedade, há alguns anos, era diferente. A minha mãe foi condenada por ter o dom da adivinhação e acharam que era fingimento ou bruxaria, por isso, escondi esse segredo… Mas já não tenho medo de o expor, pois a sociedade mudou. Eu tenho um dom, eu consigo ver as pessoas por dentro; para ser mais concreta, não só as pessoas, eu consigo ver por dentro de materiais e recolher as vontades das pessoas. Foi por isso que disse que Baltasar nunca estaria longe de mim, porque recolhi a sua vontade, para o garantir.
Entrevistador: Como reagiu Baltasar a esse seu segredo?
Blimunda: Prometi não olhar Baltasar por dentro e, como, quando estou em jejum, vejo o interior das pessoas, todas as manhãs, antes de abrir os olhos, comia pão, para que não o olhasse por dentro. Ele sempre se questionou sobre o porquê de eu fazer isso. Certo dia, ele escondeu-me o pão, para poder descobrir o que se passava comigo; e quando lhe disse “Eu posso olhar por dentro das pessoas” (Cap VIII), ele ficou incrédulo, não acreditou; então, no dia seguinte, tive de lhe provar que isso era verdade. Aceitou bem.
Entrevistador: Baltasar era conhecido por Sete-Sóis, e a sua alcunha é Sete-Luas, porquê?
Blimunda: O Padre batizou-me com essa alcunha, porque Baltasar era Sete-Sóis, via às claras, eu, que vejo às escuras, fiquei a ser SeteLuas. Foi mais que uma alcunha, foi um batismo!
Entrevistador: Muito obrigada pela disponibilidade. Ficámos a entender um pouco mais a sua importância no romance.
Blimunda: Foi com todo o gosto.
Érica Andrade e Marta Mendes, 12.° C
110
Em seu trono entre o brilho das estrelas, com seu manto de noite e solidão, tem aos seus pés o mar novo e as mortas eras, o único imperador que tem, deveras, o globo mundo em sua mão, este tal foi o infante D. Henrique, consoante o louvará um poeta por ora ainda não nascido, lá tem cada um as suas simpatias, mas, se é de globo mundo que se trata e de império e rendimentos que impérios dão, faz o infante D. Henrique fraca figura comparado com este D. João, quinto já se sabe de seu nome na tabela dos reis, sentado numa cadeira de braços de pausanto, para mais comodamente estar e assim com outro sossego atender ao guarda-livros que vai escriturando no rol os bens e as riquezas, de Macau as sedas, os estofos, as porcelanas, os lacados, o chá, a pimenta, o cobre, o âmbar cinzento, o ouro, de Goa os diamantes brutos, os rubis, as pérolas, a canela, mais pimenta, os panos de algodão, o salitre, de Diu os tapetes, os móveis tauxiados, as colchas bordadas, de Melinde o marfim, de Moçambique os negros, o ouro, de Angola outros negros, mas estes menos bons, o marfim, que esse, sim, é o melhor do lado ocidental da África, de São Tomé a madeira, a farinha de mandioca, as bananas, os inhames, as galinhas, os carneiros, os cabritos, o indigo, o açúcar, de Cabo Verde alguns negros, a cera, o marfim, os couros, ficando explicado que nem todo o marfim é de elefante, dos Açores e Madeira os panos, o trigo, os licores, os vinhos secos, as aguardentes, as cascas de limão cristalizadas, os frutos, e dos lugares que hão de vir a ser Brasil o açúcar, o tabaco, o copal, o indigo, a madeira, os couros, o algodão, o cacau, os diamantes, as esmeraldas, a prata, o ouro, que só deste vem ao reino, ano por ano, o valor de doze a quinze milhões de cruzados, em pó e amoedado, fora o resto, e fora também o que vai ao fundo ou levam os piratas, claro está que este todo não é o rendimento da coroa, rica sim, mas não tanto, porém, tudo somado, de dentro e de fora, entram nas
burras de el-rei para cima de dezasseis milhões de cruzados, só o direito de passagem dos rios por onde se vai às Minas Gerais rende trinta mil cruzados, tanto trabalho teve Deus Nosso Senhor a abrir as valas por onde as águas haviam de correr e vem um rei português cobrar portagem gananciosa.
Memorial do Convento é uma obra escrita por José Saramago sendo publicada em outubro de 1982. Reconta a sociedade portuguesa da primeira metade do séc. XVIII, mas subverte-a, acrescentando-lhe várias características que permite fazer paralelos desta sociedade atormentada pela Inquisição com o regime de Salazar.
O capítulo XVIII começa com um momento de intertextualidade com Mensagem de Fernando Pessoa, onde D. João V é comparado a Infante D. Henrique (uma das figuras fundamentais da obra de Pessoa), sendo o primeiro considerado o superior, D. Henrique é ainda ironizado pelo narrador (“lá tem cada um as suas simpatias”). A seguir, as riquezas do rei são recontadas e este medita sobre a sua grandiosidade (“dezasseis milhões de cruzados”). Temos no início do capítulo, então, a utilização de uma das quatro linhas de ação presentes na obra: “D. João V e Corte". Numa capela de madeira, os trabalhadores da construção do convento assistem à missa. Baltazar encontra-se com a família e descem juntos ao vale, para casa irem jantar a casa onde está o pai de Baltazar que não se consegue mexer. Depois, este vai encontrar-se com os amigos de trabalho e bebe, lembrando-se da morte do padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão que o enche de angústia, bebe até pressentir que Blimunda o chama, tendo ela muitas vezes acalmado a dor que ele sente. Num estado já entorpecido, Baltazar ouve as histórias dos seus companheiros de trabalho. O capítulo acaba pouco após ele contar que perdeu a mão na guerra após subir numa serra tão alta que conseguiu tocar no sol e queimou-se. Isto leva os colegas a dizerem que isso seria impossível a não ser que este fosse um bruxo, o que leva a Baltazar negar essas afirmações para não ter problemas com o Santo Ofício. Desta forma,
as linhas de ação “Baltazar e Blimunda” e “Construção do Convento” também estão presentes neste capítulo.
O narrador vai durante o capítulo projetar a sua voz várias vezes. Como em “Parirás com dor, mas até isso há de acabar um dia”, “se fosse o mar de peixes, que formoso sermão se teria podido repetir aqui,” (intertextualidade ao Sermão de António aos peixes), “Donde vêm tais coisas à cabeça destes rústicos, analfabetos todos, menos João Anes, que tem algumas letras, é que nós não sabemos” (passa a ideia de focalização externa).
Em conclusão, pelo capítulo, vão ser exploradas três das quatro linhas de ação presentes na obra, o narrador mostra-se bastante presente e interrompe a narrativa para adicionar certos elementos (recursos expressivos, intertextualidade, informações etecetera) e age como um observador sem conhecimento prévio das personagens e do que estas pensam.


Fontes consultadas:
Fernandes, Cidália (2010). Páginas de Saramago. Lisboa: Plátano Editores. Resumo do Memorial do Convento, disponível em https://idoc.pub/documents/idocpub-vnd5oej32jlx
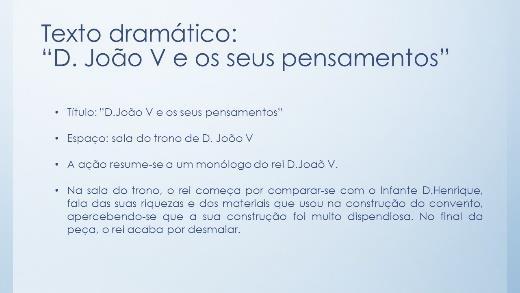
Diogo Oliveira, 12.º A
Figura 56. Apresentação de Luana Valizelos e Maria Rodrigues, 12.º E.

Texto dramático: “D. João V e os seus pensamentos”
Sala do trono, luxuosa, em que o trono é bastante evidente, devido à sua grandeza e decoração. À frente, encontra se uma carpete vermelha até à porta e as paredes são decoradas com pinturas de grandes artistas; nas janelas, cortinas de seda.
Cena única
(D. João V está sentado no trono, a refletir.)
Rei – Ai, Infante D. Henrique! Era muito boa pessoa, mas não trouxe muitas riquezas para Portugal… (Levanta-se do trono, animado, e começa a enumerar as suas riquezas.)
Já eu fui buscar riquezas a Macau: as suas belas sedas, chás e porcelanas. De Goa, os diamantes, rubis, pérolas, canela; do Brasil, açúcar, tabaco, madeira e mais pedras preciosas. Para não falar dos outros lugares onde consegui outras riquezas e bens para a coroa portuguesa... Mas, nem é preciso ir tão longe, para conseguir enriquecer, basta-me recorrer às ilhas dos Açores e da Madeira. (Senta-se novamente, mais calmo). Com isso tudo, o meu rendimento da coroa é de dezasseis milhões de cruzados. Não é mau, não, senhor! Voz-off – O convento de mafra foi mandado construir pelo rei, de modo que conseguisse concretizar o sonho de ter um filho; neste momento, já tem dois… “E a procissão ainda vai no adro”.
Rei – Que convento tão trabalhoso! Demorou cerca de oito anos para abrir caboucos... Consigo ir buscar materiais de qualidade, como, por exemplo, do Brasil, as pranchas de argelim, incontáveis, para as portas e janelas do convento… E as alvernarias?... E as pinturas?... E a estatuária?... E as tapeçarias?... (Levanta-se rapidamente, com um ar preocupado, com as mãos atrás das costas; anda pela sala desesperado, pois começou-se a aperceber-se do dinheiro que já gastou.) Ai meu Deus!!! Agora que vejo o que realmente gastei e o que fui buscar de tão longe, até me dá um mal!...
(D. João V começa-se a sentir tonto. De tantas voltas que deu à sala do trono, desmaiou. Os camareiros acodem rapidamente.)
Luana Valizelos e Maria Rodrigues, 12.º E
114
À conversa com os trabalhadores do Convento de Mafra
Neste final de tarde de sexta-feira, a Rádio Mafra viajou até uma pequena taberna localizada no concelho de Mafra, onde se encontram alguns homens, trabalhadores e colegas da obra do Convento de Mafra. Vamos, então, até à mesa onde estão juntos a beber uns copos.

Jornalista: Muito boa tarde! Como se chama?
Trabalhador Francisco Marques: Boa tarde, o meu nome é Francisco Marques.
Jornalista: Senhor Francisco, fale-nos um pouco de si: diga-nos de onde vem e o que o levou a trabalhar na construção deste convento.
Francisco Maques: Ora bem. Nasci em Cheleiros, que é aqui perto de Mafra, uma ou duas léguas. Tenho mulher e três filhos pequenos. Desde cedo trabalhava a entregar jornais, mas, como não via jeito de sair da miséria, resolvi vir trabalhar para o convento.
Jornalista: Como soube desta obra e que precisavam pessoas para aqui trabalhar?
Francisco Marques: Era eu um rapazito nessa altura em que lá na minha aldeia passou um frade que levou a notícia de que el-Rei tinha mandado construir um convento, e que lá precisavam de trabalhadores. Tempos depois, já com vida para criar, decidi vir para aqui de modo a sustentar a minha família.
Jornalista: E a sua família? Como se sustentam?
Francisco Marques: Cheleiros não é longe, portanto de vez em quando meto as pernas ao caminho. O pouco de dinheiro que ganho, duzentos réis, lá lho deixo. Os pobres como nós têm de pagar tudo. Eu por necessidade vivo e necessitado continuo.
Jornalista: Muito obrigado, senhor Francisco, por compartilhar connosco um pouco da sua vida longe da sua família. Continuamos agora a nossa entrevista com outro dos homens das obras. O senhor, como se chama? É daqui de Mafra?
Trabalhador João Pequeno: Não sei ao certo. Apareci numa aldeia perto de Torres Vedras. Sou o João Pequeno, o João é nome de pia, o Pequeno puseram-mo depois, porque não cresci muito.
Jornalista: Muito bem. Está em Mafra sozinho?
João Pequeno: Completamente sozinho. Não tenho pai, nem mãe, nem mulher. O vigário de Torres Vedras encontrou-me, batizou-me e cuidou de mim até atingir a maioridade.
Jornalista: Diga-nos então como está aqui a trabalhar.
João Pequeno: Vim para Mafra, porque gosto de trabalhar com animais. Neste caso, tem sido com os bois que carregam os carrilhões.
Jornalista: Obrigada pela atenção, senhor João. Por último, e porque já se faz tarde, passamos palavra a outro dos colegas da obra. O senhor pode fazer uma breve apresentação?
Trabalhador Baltasar : Ora viva! Sim claro, o mais breve possível. O meu nome é Baltasar Mateus, todos me conhecem por Sete-Sóis. Nasci aqui, há quarenta anos feitos, se não me enganei a contar. Minha mãe já morreu, e meu pai mal pode andar. Enquanto moço, cavei e semeei para os lavradores; depois fui para a guerra de el-Rei, ficou-me lá a mão esquerda, só mais tarde é que soube que sem ela começava a ser
igual a Deus. E como deixei de servir para a guerra, voltei a Mafra e estive também uns anos em Lisboa. Só isto e nada mais…
Jornalista: Dessa forma poupa-me o trabalho! Pode-nos dizer a origem dessa alcunha?
Baltasar Mateus: O meu amigo João Pequeno sabe porque o chamam assim, mas eu não sei desde quando e porque me meteram os setesóis no nome. Talvez seja sete vezes mais antigo que o sol que nos alumia ou então sou o rei do mundo. Mas, enfim, isto são conversas loucas de quem já esteve perto do sol e agora bebeu de mais. Peço desde já perdão se me ouvir dizer coisas insensatas, ou foi do sol que apanhei ou do vinho que me apanhou.
Jornalista: E quando foi que esteve perto do sol?
Baltasar Mateus: Ah, isso foi de uma vez que subi a uma serra muita alta, tão alta que se estendesse o braço tocava no sol. Nem sei se perdi a mão na guerra, ou se foi o sol que ma queimou.
Jornalista: Estou a ver. Mas senhor Baltasar, para chegar perto do sol, só se tivesse voado como os pássaros e, pelo que vejo, o senhor não tem asas. A não ser que seja bruxo?
Baltasar Mateus: Eu não sou bruxo! E que esta entrevista não se torne pública, ou levam-me ao Santo Ofício!
Jornalista: Relaxe. Já cá não está quem falou. Tinha mencionado também que começava a ser igual a Deus. Quer explicar essa sua metáfora?
Baltasar Mateus: Não se trata de metáfora nenhuma. Mas passo a explicar: Deus não tem a mão esquerda porque é à sua direita que senta os seus eleitos e, uma vez que os condenados vão para o inferno, à esquerda de Deus não fica ninguém. Ora, se não fica lá ninguém, porque quereria Deus a mão esquerda? Se a mão não serve, quer dizer que não existe… Adoraria ficar aqui a contar-lhe todas as minhas perspetivas e teorias, mas o sino já toca.
Jornalista: Obrigada por partilhar connosco um ponto de vista tão profundo sobre toda a sua vida. Como podemos ver, por vezes, a bebida fala mais alto. O sino da igreja de Santo André está a dar as trindades, e, por isso, damos por terminada esta reportagem. Até amanhã.
Sabrina Bretão, 12.º[19]
Terra solta, pedrisco, calhau que a pólvora ou o alvião arrancaram ao pedernal profundo, esse pouco o transportam por mão de homem os carrinhos, enchendo o vale com pó que se vai arrasando do monte ou extraindo dos novos caboucos.
Este capítulo descreve-nos o transporte de uma grande pedra desde Pêro Pinheiro até Mafra, para a construção do convento. A pedra é transportada por 600 homens de vilas próximas (que foram obrigados a colaborar) e por 200 juntas de bois, o nosso protagonista, Baltasar trabalha como boieiro.
O foco deste capítulo acaba sendo o povo, que é escravizado para fazer o convento, apesar do mesmo ser um desejo do rei, que só teve de dar a ordem para a sua construção e não teve que trabalhar ou se esforçar para tornar esse seu desejo uma realidade. De facto, o trabalho e o sofrimento acabam sendo passados para o povo, que demonstra a sua força moral e física e o seu sacrifício para cumprir a promessa do rei. Verificamos isto, por exemplo, no excerto “Deve-se a construção do convento de Mafra ao rei D. João V, por um voto que fez se lhe nascesse um filho, vão aqui seiscentos homens que não fizeram filho nenhum à rainha, e eles é que pagam o voto, que se lixam, com perdão da anacrónica voz.”
Esta realidade também está bem exemplificada pela morte trágica de Francisco Marques, que, apesar de não estar particularmente investido na construção do convento como o rei, acaba morrendo para a construção do mesmo.
O povo acaba sendo visto como ferramentas e não como indivíduos. Não são tratados melhor que os bois que os acompanham e, como tal, até acabam sentindo inveja das bestas, o que está explícito no excerto “Soltos de carga, apenas jungidos aos pares, vão desconfiados da fartura e quase sentem inveja dos manos que vêm puxando os carros dos petrechos… Os
118
homens, já se disse, vão devagar, calados uns, outros conversando, cada qual puxado aos amigos que tem”. Isto também se pode verificar depois da morte de Francisco Marques, já que, logo de seguida, é mencionada a morte de dois bois, que foram feridos de uma maneira semelhante a Francisco. Outra boa demonstração disto é o excerto: “Em Cheleiros ficou um homem para enterrar, fica também a carne de dois bois para comer.” Também é posta em questão a necessidade da grandiosidade da pedra: “[…] e tudo por causa de uma pedra que não precisaria ser tão grande, com três ou dez mais pequenas se faria do mesmo modo a varanda, apenas não teríamos o orgulho de poder dizer a sua majestade, É só uma pedra […]”. Através deste excerto podemos reafirmar a falta de importância que o rei e as outras classes dão ao povo, colocando-lhes tanto sofrimento por nada mais que orgulho. Concluindo, este capítulo apresenta um papel importante na obra, pois é o que melhor carateriza o povo, o seu sofrimento e opressão causados pelas ações do rei, que demonstra a humanidade e capacidades do povo comparado às outras classes sociais.
Sebastião Carapinha, 12.º A

O orgulho de um líder é o sofrimento de um povo
No capítulo XIX de Memorial do Convento, de José Saramago, descreve-se a epopeia do transporte da pedra desde Pero Pinheiro até Mafra. A pedra era tão grande que foram necessários 400 bois, mais de 20 carros com utensílios para o transporte (como cordas, cunhas, rodas suplentes, e outros materiais) e cerca de 600 homens. A distância que separa a pedra do lugar da construção não é muita, apenas três léguas, o que significa cerca de 15 km, mas a deslocação de um bloco gigante de mármore em pleno século XVIII implicava um esforço realmente extraordinário. É uma tarefa de oito dias que resultará na morte de dois bois e de um dos trabalhadores, Francisco Marques.
Ao longo do capítulo, um dos temas que é claramente abordado é o das relações sociais desiguais. Na opinião do autor, os trabalhadores são os verdadeiros heróis deste capítulo. São eles que sofrem com o calor de verão, empurrando a pedra por subidas e descidas cheias de curvas e contracurvas, criando caminhos onde eles não existiam, num esforço maior do que se fossem escravos, como é dito no texto “[…] não podem as galés ser piores do que isto.” Na descrição das dificuldades dos homens do povo, a ironia de Saramago revela os sacrifícios feitos na construção do convento, como o narrador diz “Em cima deste velado está o diabo assistindo, pasmando da sua própria inocência e misericórdia por nunca ter imaginado suplício assim para coroação dos castigos do seu inferno.”
Note-se que as desigualdades no acesso a uma vida digna e satisfatória são ainda uma realidade nos dias de hoje, quer no trabalho, quer no acesso a condições básicas de vida. O pilar que sustenta uma sociedade injusta e desigual é o mesmo orgulho que condicionou o monarca de Memorial do Convento a exigir tantos sacrifícios dos seus súbditos.
Falando das condições de trabalho, a globalização trouxe vantagens, como a possibilidade de adquirir produtos produzidos em lugares distantes, mas trouxe também um aumento da exploração de mão-deobra. As grandes empresas multinacionais espalham-se por vários países, procurando gastar o menos possível na produção e garantirem preços finais competitivos. Nos países de terceiro mundo, onde há muita pobreza
e analfabetismo, eles encontram trabalhadores dispostos a trabalhar longos períodos por valores tão baixos que os gastos compensam os custos do posterior transporte para os lugares onde serão vendidos. Atualmente, crianças e mulheres trabalham em condições deploráveis para patrões que escolhem ignorar o seu conhecimento de que deveriam agir de modo mais justo para com os seus funcionários. Num artigo recente da revista Visão sobre a escravatura e trabalho infantil, denunciava-se o trabalho de crianças nas minas em África, em que uma criança de quatro anos pode trabalhar cerca de doze horas por dia. Tudo para que os clientes do mundo desenvolvido possam aceder aos telemóveis, computadores, carros elétricos e outros bens a preços acessíveis.
De forma semelhante, o rei D. João V queria satisfazer o seu ego, dizendo aos seus convidados que aquela era uma pedra só, queria um convento que fosse maior do que a basílica de S. Pedro em Roma, queria imponência e fama, mesmo que isso significasse o sacrifício consciente do seu povo. Conforme Saramago descreve, “[…] e tudo por causa de uma pedra que não precisaria ser tão grande, […] apenas não teríamos o orgulho de poder dizer a sua majestade, É só uma pedra, […] por via destes e outros tolos orgulhos é que se vai disseminando o ludíbrio geral […] como esta de afirmar nos compêndios e histórias, Deve-se a construção do convento de Mafra ao rei D. João V […] vão aqui seiscentos homens que não fizeram filho nenhum à rainha e eles é que pagam o voto, que se lixam […].” As muitas descrições dos sofrimentos dos trabalhadores de Pero Pinheiro até Mafra nas páginas do capítulo reforçam esta imagem da desigualdade no trabalho transmitida pelo autor. No entanto, as expressões de sofrimento e resignação não se restringem à profissão, mas incluem a escassez de comida, as noites dormidas ao relento, a procura de identidade do ermitão e da rainha na história de Manuel Milho, elementos que contrastam com a idas e vindas a cavalo do oficial da vedoria e dos seus subordinados, as suas noites sob telha e a autoridade, e até violência, que usam sobre os trabalhadores. No mundo atual, o estatuto social ainda funciona como critério de distinção ao acesso de bens e privilégios. Aliás, enquanto metade do mundo vive no século XXI com acesso à internet, computadores,
telemóveis, casa de banho, água canalizada, gás, e tantas coisas que um europeu considera essenciais, a outra parte vive no século XIX e nem sequer alguma vez viram um computador e têm de caminhar horas para aceder a água potável. Mesmo dentro de um país desenvolvido, tais diferenças limitam o tipo de ambiente em que um ser humano vive. Crescer num bairro social, rodeado de drogas e toxicodependentes, gangues e criminalidade não é a mesma coisa do que crescer num bairro com moradias familiares, jardins, espaços infantis. A probabilidade de ter sucesso escolar aumenta conforme a capacidade financeira do jovem para aceder a eventos culturais, livros de apoio, explicações, computador, internet, um lugar sossegado para estudar em casa, entre outras coisas. Assim sendo, a frase final do capítulo resume esta diferença de interesses e sacrifícios que invertem a História. As seiscentas vidas que pagaram o preço da chegada do bloco ao local da construção refletem-se na pedra, enquanto a basílica representa o orgulho de um rei que nunca teve de fazer esforço nem sabe o que é viver nas condições em que o seu povo (sobre)vive: “Toda a gente se admirava com o tamanho desmedido da pedra, Tão grande. Mas Baltasar murmurou, olhando a basílica, Tão pequena.”
 José
José
Maria Mendes, 12.º B
Figura 59.
12.º E.
Desde que a máquina voadora descera no Monte Junto, contavamse por seis, ou eram sete, as vezes que Baltasar Sete-Sóis metera pés ao caminho para ver e remediar, quanto podia, os estragos que o tempo ia causando ali à descoberta apesar da proteção do mato e dos silvados.

De Lisboa a Mafra, Voou uma máquina, Construída e manobrada
Por um jovem maneta e a sua namorada.
Juntos, foram ao Monte Junto, Ambos com o mesmo intuito: conservar máquina que ajudaram a levantar.
Com vimes se pode consertar a máquina, mas não a vida… Quando a Mafra acabaram por regressar, havia morrido o pai de Baltasar.
Filipa Silva, Júlia Soares e Vanessa Melo, 12.º E
Querido diário,
Monte Junto, 16 de julho de 1707 Hoje, pela sexta ou sétima vez, desloquei-me a Monte Junto, para consertar a máquina que se ia destruindo com o tempo. Mesmo protegida por mato e silvado tinha as lâminas enferrujadas.
Aproveitei a viagem para colher vimes, que servem para consertar os rasgões que ia encontrando na máquina.
Até uma próxima!
Querido diário,

Monte Junto, 18 de julho de 1707 Passaram quarenta e oito horas desde que vim aqui, entretanto chegou o dia em que a Blimunda decidiu acompanhar-me na viagem. Disse que gostava de conhecer o percurso para o caso de necessitar deslocar-se até aqui sozinha, poder fazê-lo sem problemas. Depois das despedidas, pusemo-nos a caminho com o burro que eu arranjei para nos ajudar na longa viagem que tínhamos pela frente. Pelo caminho, fomos passando por vilas, que ela ia decorando, até que chegamos ao destino.
Foi um dia bestial!

Querido diário,
Monte Junto, 19 de julho de 1707 Hoje, eu e a Blimunda passamos o dia a consertar a máquina até ao pôr-do-sol. Como temos uma longa viagem amanhã, de volta a Mafra, viemos agora para a passarola descansar. Até amanhã!
Querido diário,
Monte Junto, 20 de julho de 1707 Não podia estar mais triste depois do que acabou de acontecer. Fui pedir a bênção ao meu pai, que estava sentado ao pé da lareira, mesmo com o calor que estava, e, quando me levantou a mão, devagar, como se não tivesse forças para mais nada, deixou-a cair junta da outra e a cabeça ficou sobre o peito. O meu mundo caiu. Deixou um quintal e uma casa velha, um cerrado no Alto da Vela que levou anos a limpá-lo de pedras… Afonso Marques e Beatriz Alves, 12.º F



Sétima Viagem
No capítulo XX, Baltasar Sete-Sóis e Blimunda Sete-Luas realizam a sétima deslocação de Mafra até Monte Junto para reconstruir a passarola que lhes havia sido deixada em mãos pelo padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão, que falecera em Toledo.
Com o propósito de fazer a manutenção à máquina que lhes permitia voar, Baltasar planeia deslocar-se sozinho ao Monte Junto, onde esta se encontra escondida, apesar de ter sido protegida por mato e silvas. O seu plano original foi cancelado, visto que Blimunda insistiu em realizar esta viagem com ele, caso algum dia necessitasse de ir à passarola de forma independente e sem contratempos.
Como ambos são símbolos de determinação, aventura, coragem e empenho, vão juntos reparar e limpar a passarola e pretendem acabar este trabalho antes do pôr-do-sol, mas só acabam na manhã seguinte. Dão início à viagem de regresso a casa (Mafra), passando despercebidos por aldeias onde havia gente, para não serem alvos de suspeita. Chegam já de noite e, pensando que já passaram pelo mais difícil, assistem à morte de João Francisco, pai de Baltasar, que estava bastante doente. Baltasar pede ao pai uma bênção, como último gesto.
Esta “sétima” viagem está também simbolicamente relacionada com o número 7, que é utilizado com frequência na escrita Saramaguiana: sete homens que vêm trabalhar para o Convento de Mafra, oriundos de sete regiões diferentes do país; sete bispos que batizaram D. Maria Bárbara; sete vezes que Blimunda vai a Lisboa à procura de Baltasar; além dos próprios apelidos: Sete-sóis e Sete-luas...
Em suma, esta deslocação é feita para dar continuidade à utilização da passarola que foi abandonada durante um longo período, objetivo que lhes permite concretizar o sonho de Bartolomeu Lourenço de Gusmão: o Homem poder voar.
Webgrafia
https://prezi.com/rr2zxpe0ug-9/memorial-do-convento-cap-xx/ https://geektuga.ddns.net/downloads/documentos/Portugues_12/resumo%20memorial.pdf
Tomás Almeida, 12.º G















S. Pedro de Roma não tem saído muito das arcas nestes últimos anos. É que, ao contrário do que geralmente acredita o vulgo ignaro, os reis são tal e qual os homens comuns, crescem, amadurecem, variam-se-lhes os gostos com a idade, quando por comprazimento público se não ocultam de propósito, outros por necessidade política se vão às vezes fingindo.

Figura 64. Fotografia alusiva à obrigatoriedade de os trabalhadores irem trabalhar para o convento, tirada por Abel Teixeira, 12.º B.
Eu sou apenas um mero trabalhador, dos mais pobres do reino português, e confesso que nunca tive intenções e nem dinheiro para sair da minha querida vila de Santo Tirso.
A minha querida cidade, localizada entre a grande metrópole do Porto e a cidade de Braga, sempre foi a minha paixão, mas infelizmente, a minha vida de pobre condicionou-me a roubar quando tinha apenas catorze anos de idade para ajudar a minha família a ter uma chance de sair da pobreza.
Fui preso. Agora, ao fim de 5 anos preso, sou capaz de escrever para a minha família o relato da minha viagem, pois à há cerca de um ano que vivo a trabalhar na construção do convento de Mafra, perto de Lisboa.
Isso tudo começou quando, no ano de 1716, perto do Natal. El-rei D. João V começou a recrutar homens pelo país inteiro para a construção de um projeto muito ambicioso – o convento de Mafra.
Sua Majestade necessitava de cerca de quarenta mil homens para o seu projeto e os homens recrutados eram principalmente os mais pobres e os criminosos, ou seja, eu fui um dos trinta e três homens que partiram de Santo Tirso.
Ao princípio, foi-nos prometido um subsídio e alimentação durante o tempo que estivéssemos a trabalhar, mas isso nunca foi cumprido. Ao sair da cidade, passámos primeiramente por pequenas vilas para seguir com outros trabalhadores e, de seguida, partimos em rumo à cidade do Porto, onde seguimos de barco até Lisboa. Dos trinta e três homens que saíram comigo, apenas vinte e sete chegaram vivos à capital.
Ao chegar a Lisboa em janeiro de mil setecentos e dezoito, as obras já tinham começado e nós começámos logo a trabalhar.
Depois da viagem, eu estava de rastos e logo me apercebi de que o trabalho nas obras do convento era a escravatura em Portugal. Eu e todos os trabalhadores éramos escravos do reino e estávamos sobre o sol ou a chuva e sobre constante pressão e maus-tratos dos guardas d’El-Rei. Eu até me arrisco a dizer que nós éramos tratados como se fôssemos tijolos, já que a nossa vida não valia de nada para sua majestade…
As condições a que eu era submetido não são dignas de um ser humano: não me podia lavar, só era dada uma refeição por dia a cada trabalhador, não tínhamos nenhum dia de descanso e só nos davam roupas novas uma vez a cada dois meses.
Após um ano de trabalho forçado, comecei a perder a capacidade de trabalhar começando pelas dores que tinha nas pernas e depois nas mãos de pegar em pedras.
Muitos dos escravos que reclamavam eram julgados em praça pública ou então eram agredidos pelos guardas mesmo em frente ao convento. Os guardas gostavam de se divertir disparando as suas armas contra os escravos que não trabalhavam ou então que estavam a descansar. Não necessito dizer que muitos morreram no processo…
No final do ano de 1719, juntei-me a um grupo de catorze trabalhadores que planeavam escapar às obras do convento e ganhar a sua liberdade. E assim foi, planeámos tudo durante dias e dias sem que os guardas suspeitassem e, no dia 14 de novembro de 1719, escapámos do convento cerca da meia-noite quando os guardas estavam a descansar.


Conseguimos escapar e estamos a viver em Lisboa em liberdade, mas com outro nome para não nos reconhecerem. Espero um dia voltar a Santo Tirso… à minha casa e à minha família!
Abel Teixeira, 12.º B


Figura 65. Apresentação de Catarina Alves e Rodrigo Oliveira, 12.º E.

Memorial do Convento, publicado em outubro de 1982 por José de Saramago, é um romance cuja ação decorre entre 1711 e 1739 (28 anos), durante o reinado de D. João V, incidindo sobre o período da construção do Convento de Mafra. Este romance tem como personagens membros históricos da família real portuguesa, bem como membros do povo de uma sociedade marcada por fenómenos religiosos como os autos de fé. Esta desigualdade configura, por um lado, o mundo artificial e ostensório da realeza e, por outro, um ambiente estratificado de ignorância e superstição evidentes no Portugal da primeira metade do século XVIII.
O capítulo XXI do Memorial do Convento serve, por isso, de crítica ao reinado de D. João V e ao Portugal do século XVIII, que, apesar de ser um país rico e abundante, submete o seu povo à miséria e à exploração.
D. João V, ao ordenar o aumento do convento de oitenta para trezentos frades e devido ao prazo coincidente com o seu aniversário manda recrutar à força milhares de homens portugueses para a construção do convento. Estes, que iam contra a sua vontade, deixavam para trás as suas mulheres e filhos e eram quase considerados escravos. Muitos morriam de exaustão, falta de comida e água, sucumbindo à propagação de doenças causadas pela falta de higiene e por negligência das condições em que trabalhavam.
Infelizmente, apesar de a situação dos trabalhados portugueses estar, nos dias de hoje, muito melhor e a par da realidade vivida no resto da Europa, situações de exploração do trabalhador ainda ocorrem no século XXI.
São inúmeros os casos conhecidos de exploração no trabalho em Portugal. Como o recente caso dos militares da GNR que se filmaram a torturar imigrantes em Odemira. É verdade que vivemos numa sociedade em que se começa a valorizar mais o bem-estar físico e psicológico do que o trabalho e o dinheiro, com propostas como, por exemplo, a redução da semana laboral de cinco para quatro dias. No entanto, ainda existem casos de sobrecarga/exploração dos trabalhadores, que se veem obrigados a trabalhar horas extraordinárias sem receber, ou que
desempenham/realizam o trabalho de dois ou três, mas que, por ganância, os patrões não contratam mais funcionários. Muitos saem de casa de manhã para só chegar à noite e receber um salário que mal lhes dá para pagar a renda, comida e transportes. No fim de semana, em vez de poderem aproveitar para descansar, alguns trabalhadores veem-se obrigados a realizar tarefas relacionadas com o seu trabalho. Uma situação ainda bastante recorrente, é a sobrecarga a que os profissionais de saúde estão sujeitos em Portugal, que se agravou no período de pandemia e teve como consequência um grande aumento de casos de doenças psicológicas como ansiedade e depressão entre estes profissionais.
Ainda assim, Portugal tem vindo a melhorar as condições de trabalho e direitos dos trabalhadores, tendo no ano passado sido aprovada uma lei que proibiu que os empregadores contactem o trabalhador no período de descanso, salvo situações de força maior, quer estejam a exercer as suas funções presencialmente, quer o façam de forma remota.
Após uma análise do capítulo XXI do Memorial do Convento é possível identificar a grande crítica presente neste capítulo: a exploração do povo português no século XVIII. Comparando com a realidade vivida atualmente, percebemos que, ao longo de muitos anos, as condições a que os trabalhadores estiveram sujeitos melhoraram muito mas, apesar da grande evolução que houve, ainda há muito que se pode fazer para tornar essas condições ideais.
Webgrafia
Porto Editora – Memorial do Convento na Infopédia [em linha]. Porto: Porto Editora. [consult. 2022-0525 00:00:27]. Disponível em https://www.infopedia.pt/$memorial-do-convento
“Militares da GNR filmam-se a torturar imigrantes em Odemira”. Consultado a 11 de maio de 2022, em: https://www.dn.pt/sociedade/militares-da-gnr-filmaram-se-a-torturar-imigrantes-em-odemira14417087.html
“Empresas que contactem trabalhadores fora do horário arriscam coima até 9.690€”. Consultado a 10 de maio de 2022, em: https://eco.sapo.pt/2021/11/04/empresas-que-contactem-trabalhadoresfora-do-horario-arriscam-coima-ate-9-690-euros/
Miguel Matos, 12.º A
134
Porém, ainda se encontram famílias felizes. A real de Espanha é uma. A de Portugal é outra. Casam-se filhos daquela com filhos desta, da banda deles vem Mariana Vitória, da banda nossa vai Maria Bárbara, os noivos são o José de cá e o Fernando de lá, respetivamente, como se costuma dizer.
Casamentos Planeados
Costume e conveniente era a realização de casamentos arranjados, estes eram tratados como um negócio: “Muita conversa, muito embaixador, discussões sobre cláusulas dos contratos de matrimónio, as prerrogativas, os dotes das meninas”, como anotou Saramago no Memorial do Convento. “Mecanismo”, que foi caindo em desuso, pois não realizava aquilo que está na essência de um casamento romântico, até ser considerado ultrapassado.
Em Memorial do Convento, no capítulo XXII, retrata-se a realização dos casamentos arranjados, que tomaram lugar na fronteira entre Portugal e Espanha mais precisamente no rio Caia, entre D. Maria Bárbara com D. Fernando VI de Castela e D. José com Mariana Vitória, no âmbito de unir famílias e criar alianças, neste preciso caso em unir as famílias reais portuguesa e espanhola, sendo de pouca importância as relações amorosas entre os parceiros.
Figura 66. Imagem alusiva aos casamentos entre os infantes, feita Ricardo Feitoria, 12.º A.
Nos dias de hoje e na sociedade europeia, não interessa a conveniência de um casamento, pelo que, quando isso acontece, se trata

de um casamento por interesse, ou seja, um casamento não romântico para benefício de uma das partes, algo que é visto de lado pela sociedade. O casamento trata da união devota de dois indivíduos pelo estabelecimento religioso sem quaisquer interesses de exploração, sendo este género de união aquele que é normalmente pretendido, por isso mais comum.
Resumindo, denota-se a importância do facto de os casamentos não serem “combinações do pé para a mão”; o que prova que é necessária a existência de algo maior para não se suceder aquilo que é previsto para um casamento arranjado, como, por exemplo, a perda do caráter sentimental de uma união supostamente amorosa.
Ricardo Feitoria, 12.º A
O casamento: ontem e hoje
Ao longo dos séculos, o casamento foi promovido como uma importantíssima instituição social. Era a base da família e, por consequência, da própria sociedade. No entanto, foi uma instituição que se prestou a muitos abusos, transformando as pessoas, sobretudo as mulheres, em moeda de troca.
O capítulo XXII do Memorial do Convento, de José Saramago, mostra isso mesmo: os dois casamentos reais foram minuciosamente preparados, como aliança política, ignorando-se os sentimentos e desejos dos noivos. As mulheres e, neste caso, também os homens, foram objeto das decisões de outros, sem nenhuma liberdade de escolha. Estes casamentos aconteceram de acordo com os interesses das casas reais, foram planeados devido a intenções políticas e económicas, não se importaram com os sentimentos destas mulheres, apenas as necessidades de outros. Eram casamentos muito rígidos, que afetavam a vida das mulheres e todas as suas circunstâncias.
Lamentavelmente, no século XXI, em alguns países, o casamento continua a ser uma questão problemática, visto que muitas raparigas são ainda obrigadas a casar-se, quer por motivos étnico-religiosos, quer por razões económicas. Na Ásia e em África, ainda são prática corrente os
136
casamentos combinados entre as famílias. Sem liberdade, a vida humana perde o seu sentido mais nobre. Quantas mulheres não foram transformadas em objeto ao longo dos tempos, e nos nossos dias, através do casamento?

Figura 67. A cada sete segundos uma menina é forçada a se casar. (consultado a 19 de maio de 2022; clique na imagem para aceder à notícia.)
No entanto, os casamentos são uma forma de mostrar a felicidade entre homens e mulheres. É um ato de igualdade, compromisso e respeito, um relacionamento que contribui para acentuar os diferentes sentimentos e onde a mulher tem um papel importante. Atualmente, a mulher é, na verdade, muito mais respeitada e pode tomar as suas próprias decisões em relação a vários aspetos da sua vida e da vida em comum com o marido. Sendo mais livres, as mulheres estão menos sujeitas ao julgamento da sociedade. Acresce ainda o facto de a melhor educação e a independência económica reforçarem a dignidade de todas as mulheres. O casamento continua a ser a célula da estabilidade e do equilíbrio na sociedade. Contribui para a boa educação das crianças e a sua estabilidade emocional. É onde se compartilham e transmitem os diferentes valores e sentimentos.
Apesar dos muitos aspetos caricatos e mesmo abusivos ligados à história do casamento, como vemos no romance Memorial do Convento, julgo que devemos ter a coragem de reconhecer que o casamento continua a ser uma instituição que dignifica os homens e as mulheres e contribui significativamente para a formação das crianças.
Yadislennis Pijuan Moreno, 12.ºG[23]
À frente, por serem de maior grandeza corporal e portanto lhes caber justa capitania, vão S. Vicente e S. Sebastião, ambos mártires, embora do martírio daquele não se veja outro sinal que a simbólica palma, o resto são atavios de diácono e emblemático corvo, ao passo que o outro santo se apresenta na conhecida nudez, atado à árvore, com aqueles mesmos buracos de horríveis feridas, donde por prudência se desencaixaram os dardos, não fossem partir-se durante a viagem.
Figura 68. Montagem de imagens alusivas a este capítulo, Bruno Gusmão, 12.º B.
Na obra Memorial do Convento, escrita por José Saramago, Blimunda perde Baltasar quando o mesmo se deslocou até à passarola. Ou seja, Blimunda, além da passarola perdeu também Baltasar, alguém que lhe era muito próximo, o que significa que era alguém importante na sua vida. Trata-se de um assunto muito delicado, visto que perder alguém de quem gostamos nunca é algo que se esteja à espera, o que nos provoca uma tristeza e um vazio enorme. Como qualquer outra pessoa também já passei por essa experiência.

No dia 27 de julho, chegava da Silveira, de uma boa tarde passada com os meus amigos, mar, sol, os rapazes, as miúdas… O plano, para depois dessa tarde, era chegar a casa para me preparar para sair à noite. No entanto, mal entrei a porta, vi o meu pai com um olhar que nunca tinha visto e imediatamente percebi que algo não estava bem. Perguntei-lhe o
138
que tinha se passado e ele deu-me a notícia que, enquanto estava com os meus amigos, o meu padrinho havia falecido. Fui imediatamente a correr para casa da minha avó e mal entrei vi-a a chorar, com a minha mãe e a minha tia. Tentei reconfortá-las na esperança de que se acalmassem um pouco. Nunca tinha sentido um ambiente tão pesado, triste, depressivo como aquele e dele não me esqueço… Numa tarde completamente normal, perdeu-sea vida de alguém muito importante da minha família, alterando assim repentinamente a direção da minha vida. Algo semelhante ao que Blimunda deve ter sentido quando Baltasar desapareceu na passarola naquela noite…
 Bruno Gusmão, 12.º
Bruno Gusmão, 12.º
B
Memorial do Convento é um romance do escritor português José Saramago, publicado pela primeira vez em outubro de 1982. Este romance já foi traduzido em mais de vinte idiomas e totaliza mais de cinquenta edições. A ação decorre no início do século XVIII, durante o reinado de D. João V e da Inquisição.
A obra é constituída por 25 capítulos, que não estão numerados ou intitulados. Narrada, geralmente, na terceira pessoa, sem participação do narrador na ação. Porém, às vezes, o narrador coloca-se no ponto de vista de algumas personagens, pois assume o pensamento ou identifica-se com a personagem. Todavia, o narrador comporta-se sempre como um guia para quem lê a obra.
Figura 69. Fotograma da apresentação elaborada por Francisca Costa, 12.º H.
A obra começa com a história de D. João V e D. Maria Ana Josefa, que, após dois anos de casamento, não estavam a conseguir um herdeiro. Fazse uma premonição da vinda de um herdeiro, se um convento fosse construído em Mafra e D. João V, com esperança, promete a construção se a rainha engravidasse. O convento é criado com o sacrifício da vida da população pobre. A partir daí, inicia-se o romance entre Baltasar e Blimunda. O casal conhece o padre Bartolomeu de Gusmão e iniciam a
construção de uma máquina voadora, a passarola. Juntos conseguem fazer com que a passarola voe, contudo, o padre passar a ser perseguido pela Inquisição, acusado de bruxaria, e foge para Espanha depois do primeiro voo da passarola e de a tentar incendiar.
Este romance critica a história, a sociedade e a hipocrisia religiosa, abordando temáticas como o amor, as relações humanas, a religião e a exploração do povo pobre. A perseguição da igreja em Portugal no século XVIII é outro ponto marcante, pois aqueles que não seguiam o catolicismo eram acusados de bruxaria e castigados. O dilema entre a liberdade e o amor é outra questão levantada pelo autor: enquanto a rainha não era livre de amar por estar presa no mundo de aparências do reino, Blimunda seguia tinha liberdade no seu amor com Baltasar.
No capítulo XXIII, as personagens que mais são referidas são Baltasar Sete-Sois, um homem pragmático e simples, que assume o papel de construtor da passarola e de membro do casal protagonista; Blimunda Sete-Luas, o segundo membro do casal protagonista, que é uma mulher sensual e inteligente com a capacidade de conseguir percecionar a hipocrisia e a mentira em alguém.
Neste capítulo, faz-se a descrição do cortejo das estátuas dos dezoito santos que estão a ser transportados para o convento de Mafra, tal como a chegada ao convento dos primeiros trinta noviços. Os anos da construção do convento são referidos, tal como a despedida amorosa do casal. Também é mencionado um dos acontecimentos mais importantes, que é o voo da passarola após Baltasar.
A linguagem e o estilo que o autor utiliza é extremamente diferente do estilo que é normalmente visto noutros autores. Principalmente a utilização peculiar da pontuação, como a eliminação do travessão e dos dois pontos em diálogos, a substituição de pontuação tal como o ponto de interrogação, entre outros, por vírgulas e o início de cada frase apenas assinalada por maiúsculas. Quanto ao tempo do discurso, o autor usa anacronias como a analepse e prolepse.
Fontes consultadas:
“Memorial do Convento”, in Portal da Literatura. Consultado a 01 de junho de 2022. Disponível em https://www.portaldaliteratura.com/livros.php?livro=770 https://www.guiaestudo.com.br/memorial-do-convento
Letícia Lago, 12.º A
140
Em toda essa noite, Blimunda não dormiu. Pusera-se a esperar que Baltasar regressasse ao cair do dia, como em outras ocasiões acontecera, nessa crença saiu da vila, andou quase meia légua pelo caminho que ele traria, e, durante muito tempo, até fechar-se por completo o crepúsculo, se deixou estar sentada num valado, vendo passar a gente que ia para Mafra, de romaria à sagração, não era festa que se perdesse, certamente haveria esmola e comida para quantos aparecessem, ou elas não faltariam aos mais lestos e lamuriosos, procura a alma as suas satisfações, o corpo não as dispensa.
Procuro-te
Baltasar, Que nuvens tuas Recusava espreitar… Por nuvens escuras Te anseio avistar…
Sobre tais nuvens voas… Não sei com que fim Reúno as vontades boas E procuro-te perto de mim…
De hábito vestido, Um lobo me traiu: Salta em mim, o pervertido, Mas pela tua mão, espetado caiu. À tua procura volto a Mafra, Entre coches de douradas tábuas E felizes pessoas de ricas safras,
Desespero em saudades tuas, Baltasar!
Henrique Vaz, 12.º A
Figura 70. Desenho de Henrique Vaz, 12.º A.

O Sol nascia e logo me levantei e fui buscar algum alimento para a viagem. O desassossego afastou de mim o sono e levou-me pelo caminho um dia já percorrido com Baltasar. Desta vez eu partia só e ansiosa, parando apenas para questionar a quem encontrava pelo caminho se haviam avistado um homem escuro, grisalho e semelhante a Deus na ausência de mão esquerda.
Saí dos caminhos principais e segui pelos atalhos que tinha gravado na memória. Observei o mesmo monte, a mesma mata, quatro pedras alinhadas e seis colinas em redondo, não demorando os meus olhos na paisagem. Muito havia para ser apreciado nesse caminho, muito que eu hoje olhava mas não via. De que me servia ser capaz de ver o que ninguém pode se a única coisa que desejava avistar – não apenas um, mas SeteSóis – os meus olhos não eram capazes de alcançar?
Já haviam passado várias horas a andar e não tinha parado para comer. Na esperança de ver o meu objetivo cumprido, fui andando e mastigando. Não precisava ver mais do que o caminho até Baltasar. Com as vontades de outras pessoas fui capaz de fazer voar, mas hoje voam as horas e vejo-me incapaz perante a minha própria vontade de encontrar o meu marido.
O caminho estava igual e a paisagem despertava memórias da anterior viagem por este caminho, mas a distância ao Monte Junto parecia aumentar à medida que eu caminhava e a solidão e a noite apoderavam-se de mim a cada passo que dava. Mas a força que me levava em frente era mais forte do que o éter que segura as estrelas, e por isso gritei o nome de meu marido, esperando ouvir mais que o eco da minha própria voz.
Cheguei ao local onde um dia se encontrara a passarola, acreditando que o reencontro de Sete-sóis e Sete-Luas se daria ali. Afinal, não estava destinado um tão grande eclipse para essa noite.
Blimunda B


Guião para apresentação dramática – capítulo 24
Cenário: Casa pobre e sem divisões, com uma cama, a de Blimunda; exterior: arbustos arrancados e ruínas de um convento. Adereços cénicos: alforge e espigão. Personagens: Frade e Blimunda.
Cena I
Blimunda (está na cama; acorda, senta-se na cama e grita) – Baltazar! Baltazar! (Sem resposta, sai de casa. Vai à procura do marido.)
Cena II
(Blimunda vai caminhando pela estrada e encontra um frade que, pelo hábito, reconhece ser dominicano e que lhe faz gesto de bênção.)
Frade – O que fazes aqui?
 145 Figura 71. Postais alusivos ao Monte Junto, feitos por Magda Costa Sousa, 12.º B.
145 Figura 71. Postais alusivos ao Monte Junto, feitos por Magda Costa Sousa, 12.º B.
Blimunda – Ando à procura do meu homem. (Pausa para refletir como explicar a situação.) Somos de Mafra; o meu homem veio aqui, ao Monte Junto, por causa de um grande pássaro que ouvimos dizer que vivia cá. O meu medo é que o pássaro o tenha levado. (O frade afastase um pouco.) Não viu por aqui um homem que tem falta da mão esquerda e usa um gancho a fazer as vezes dela?
Frade – Não, não vi ninguém.
Blimunda - Assim sendo, vou-me embora. Dê-me a sua bênção, padre!
Frade – Daqui a pouco é noite, vais-te perder se te metes a caminho. Algum lobo ainda te apanha, que os há por aqui. O vale é mais longe do que parece. Ouve, ao lado do convento há uma ruína de um outro convento, que não se chegou a acabar… Podes passar lá a noite e, amanhã, continuas a procurar o teu homem. Vou-me embora. Faz como quiseres. Depois não te queixes de que não te avisei dos perigos!
Blimunda (fica parada, hesitando. Pouco depois, senta-se a pensar, falando consigo mesma.) – Se ficar aqui sentada, vão achar que sou uma bruxa, à espera de viajante para chupar o sangue… Sou apenas uma desgraçada mulher, que perdeu o seu homem (chorando, Blimunda caminha). Vou para o abrigo de que o Frade me falou.
Cena III
(Blimunda está a dormir nas traseiras do convento. O frade aproxima-se dela, ajoelha-se, ao mesmo tempo que Blimunda mete a mão no alforje. O frade afasta-lhe devagarinho as pernas, levanta-lhe as saias, “empurrando o membro para a invisível fenda”. Automaticamente, Blimunda enterra o espigão nas costelas do dominicano, matando-o. Empurra-o violentamente e foge.)
Cena IV
Blimunda (vai até ao rio, para lavar o espigão e murmura) – Malditos sejam os Frades!
Beatriz Vieira e Madalena Sousa, 12.º C
146
[25]
Durante nove anos, Blimunda procurou Baltasar. Conheceu todos os caminhos do pó e da lama, a branda areia, a pedra aguda, tantas vezes a geada rangente e assassina, dois nevões de que só saiu viva porque ainda não queria morrer.
Como resultado da leitura, este capítulo vai-se resumir a Blimunda, uma das personagens principais, que vai percorrer quase um país inteiro, à procura de Baltazar, também personagem principal, e só ao fim de quase uma década inteira é que finalmente o encontra.
Em primeiro lugar, Blimunda, ao procurar o Baltazar durante nove anos, vai de ponta a ponta de Portugal e, ao chegar a terras em que não conseguia perceber o que diziam, dava meia-volta e voltava para trás, ou seja, sabia que tinha passado a fronteira e regressava novamente a Portugal. Muito ela caminhou, por uma boa razão! ela foi uma mulher muito persistente, pois só parou quando o encontrou.
Em segundo lugar, a Voadora, ao passar por Mafra, sabe da notícia da morte de Álvaro Diogo. Segue, então, caminho para Lisboa, pela sétima vez. Quando lá chega, está em jejum, já não comia fazia vários dias. Ao passar pelo Rossio, dá-se conta de uma multidão seguida de um cheiro a carne queimada; ela aproxima-se para ver melhor. Percebe que a queima já vai avançada, que são 11 pessoas e que estão a ser queimadas, sobretudo, pela prática do judaísmo. Entre elas, avista um corpo sem mão esquerda e é aí que se apercebe de que finalmente encontrou Baltazar. “Desprendeu-se a vontade de Baltazar sete-sóis, mas não subiu para as estrelas, se à terra pertencia e a Blimunda”. Pode ter sido uma grande tristeza encontrá-lo naquele estado, mas também um alívio, pois Blimunda pode dar por terminada a sua extenuante busca.
Teresa Sousa e Margarida Cordeiro, 12.º C
O vigésimo quinto capítulo da obra Memorial do Convento, de José Saramago, é o último capítulo desde romance, que se desenrola no século XVIII e tem como evento histórico a construção do convento de Mafra. A linha de ação fundamental desta última sequência narrativa é a de Baltasar e Blimunda, que vivem uma história de amor ao longo desta obra.
De forma resumida, esta obra guia-se por quatro linhas de ação fundamentais: a do rei D. João V e da sua corte, a da construção do convento, a de Baltasar e Blimunda e a do padre Bartolomeu Lourenço, focada essencialmente na construção da passarola.
Neste último momento, após percorrer Portugal de lés-a-lés, tendo inclusive cruzado terras espanholas, durante nove anos de buscas por Baltasar, que no vigésimo terceiro capítulo havia ido a Monte Junto ver da passarola, que, por sua vez, levantou voo, Blimunda já conhecia todos os caminhos da sua pátria e todos a ficaram a conhecer como “Voadora”. Achavam que era louca, porém, quando a conheciam melhor, percebiam que esta era realmente sensata (“Julgavam-na doida, mas, se ela se deixava ficar por ali uns tempos, viam-na tão sensata em todas as mais palavras e ações que duvidavam da primeira suspeita de pouco siso.”). Os próprios habitantes dos lugares por onde Blimunda passava ficavam sensibilizados com a busca que aquela mulher fazia sem nunca vacilar. Todavia, nem sempre a viagem foi calma, Blimunda havia sido apedrejada e maltratada aquando da sua busca (“[…] aconteceu-lhe ser apedrejada, escarnecida […]”) e, numa aldeia onde fora maltratada, onde a secura e a escassez de água era notáveis, correu água após a expulsão da “Voadora” (“[…] pouco faltou para a tomarem por santa, foi o caso que havia no lugar grande secura de água, por estarem exaustas as fontes e consumidos os poços, e Blimunda após ter sido expulsa […] entrou na aldeia, e posta no meio da praça gritou que em tal sítio a tal profundidade corria um veio de água pura […]”).
Blimunda já se tinha perdido no tempo, no caminho percorrido, mas não desistia de encontrar Baltasar. Por vezes, imaginava que ele ia aparecer e ela estender-lhe-ia um gancho: “Quantas vezes imaginou Blimunda que estando sentada na praça duma vila, a pedir esmola, um
148
149
homem se aproximaria e em lugar de dinheiro ou pão lhe estenderia um gancho de ferro [...]”.
Finalmente, encontrou-o. Na sétima vez que passou por Lisboa, um pressentimento levava-a a acreditar que a sua busca estava a chegar ao fim (“[...] parecia que sobre a sua mão outra mão se pousava, e uma voz lhe dizia, Não comas, que o tempo é chegado.”), repetiu o caminho que fez no dia do auto de fé de sua mãe, dia em que conheceu Baltasar, e sentiu o cheio a carne queimada por entre o fedor da cidade. Eram onze os condenados do dia, as caras já mal se reconheciam, mas Blimunda nunca se esqueceu do homem que não tinha a mão esquerda e as fartas barbas. Foi recolhida a última vontade da obra, a de Baltasar, que a Blimunda eternamente pertencerá, como se depreende do excerto: “Desprendeu-se a vontade de Baltasar Sete-Sóis, mas não subiu para as estrelas, se à terra pertencia e a Blimunda.”
Ao longo da obra, o autor não introduz marcas de discurso, como é o caso dos travessões, e a pontuação expressiva do diálogo é feita pelo meio de vírgulas e de verbos introdutores do discurso (“Abriu caminho, chegou-se às filas da frente, Quem são, perguntou a uma mulher que levava uma criança ao colo, [...]”).
Alguns dos recursos expressivos presentes neste capítulo são: a comparação (“A sola dos seus pés tornou-se espessa, fendida como uma cortiça”; “Tisnou-se de sol como um ramo de árvore retirado do lume [...]”); a personificação (“[...] a geada rangente e assassina, [...]”); a hipérbole (“[...] duas esferas de metal baço que contêm o maior segredo do universo, [...]”); a antítese (“[...] caminho bom, caminho mau, encosta de subir, encosta de descer, planície, montanha [...]”); a anáfora/repetição (“[...] era meu marido, era meu pai, era meu irmão, era meu filho, era meu noivo [...]”); e a metáfora (“Portugal inteiro esteve debaixo destes passos [...]”).
Em suma, o capítulo XXV, apesar de ser talvez o mais pequeno desta narrativa, é um capítulo que contém uma elipse logo no seu início (“Durante nove anos [...]”), e que constitui a catarse deste romance: Blimunda vê o seu amor arder no lugar onde se conheceram vinte e oito anos antes, ou seja, vinte e oito anos depois Blimunda volta a perder algo de valor, mas a vontade de Baltasar será eternamente dela.
Carlota Melo, 12.º G



Apêndice
Apresentam-se, nesta secção, os trabalhos elaborados (cartazes e lembranças) pelos formandos do curso de Técnico de Artes Gráficas, durante setembro e outubro de 2022, a fim de divulgaram a exposição junto da comunidade escolar.





















Figura 81. Projeto de cartão com citações retiradas de Memorial do Convento, elaborado por Tiago Espínola.


Figura 82. Projeto de postal pop-up do Professor Carlos M. Severino.