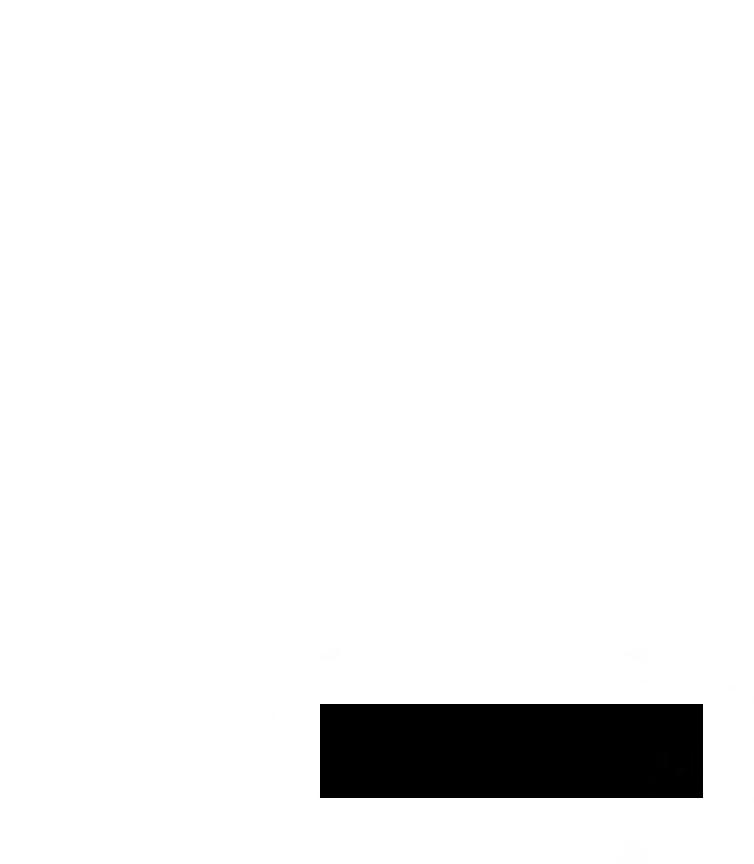as pequenas partículas presentes no dia a dia
Com popularidade crescente, produtos baseados em nanomateriais e nanotecnologia são o presente e não apenas o futuro
A nanociência e a nanotecnologia são áreas interdisciplinares da ciência que buscam compreender e manipular materiais em nanoescala (um nanômetro é equivalente à bilionésima parte de um metro, ou 10 m). O controle da composição e estrutura na nanoescala torna possível desenvolver e explorar materiais com novas propriedades, de forma a integrá-los em sistemas maiores para que tenham aplicações no mundo macro.
Antes mesmo de ter seu conceito estabelecido, algumas sociedades da antiguidade geraram objetos emblemáticos, sem ao menos entender completamente com o que estavam lidando, como a taça de Licurgo – um artefato romano do século IV feito de vidro dicróico, que apresenta coloração vermelha quando iluminado por dentro (luz transmitida) e verde quando iluminado por fora (luz refletida). Outro exemplo é o uso de nanopartículas de ouro em suspensão (1 nm) pelos alquimistas egípcios em aproximadamente 4.000 anos a.C para produzir o elixir da longa vida, que prometia estimular a mente e restaurar a juventude. Os chineses, por sua vez, utilizavam nanopartículas de carvão em solução aquosa para fabricar a tinta do famoso nanquim.
Apesar dos registros históricos, a nanotecnologia como ciência é relativamente nova, pois necessita de equipamentos com acurácia e sensibilidade suficientes para possibilitar o estudo de materiais na escala nanométrica. Ela foi inaugurada em 1959, quando Richard Feynman, ganhador do Prêmio Nobel de Física de 1965, proferiu a palestra “There's plenty of room at the bottom” (“Há muito espaço lá embaixo”, em tradução livre). Nela, o cientista discursou sobre a possibilidade de manipular e controlar a matéria em escala atômica, bem como de rearranjar os átomos à sua preferência. O que na época era só uma hipótese improvável, hoje já é realidade.
Apesar de Feynman ter introduzido o assunto, ele não foi o responsável pelo termo ‘nanotecnologia’. Quem nomeou essa vertente foi o engenheiro japonês Norio Taniguchi, em 1974, quando tentava diferenciá-la da engenharia em escala micrométrica.
Nos sistemas biológicos, desde os organismos mais simples até os mais complexos, como plantas, animais e o próprio corpo humano, existe uma organização na qual as estruturas das matérias de cada região possuem propriedades específicas – as quais, dependendo do ambiente ou das condições, podem ser alteradas. As moléculas inorgânicas também funcionam assim: por meio de interações mais fracas, elas criam estruturas que se adequam a determinadas funções.

A nanotecnologia, basicamente, procura replicar isso. “Quando entrei em contato com a temática, diziam que seria a próxima revolução”, afirma Koiti Araki, Professor Titular do IQUSP e especialista na área de Materiais e Nanociência. “Na época, não entendíamos como as partículas de metais e de óxidos, só por serem pequenas, teriam tantas aplicações. Hoje em dia, vemos que temos condições de contribuir em diversos segmentos fundamentais para a sociedade, como saúde, energia e meio ambiente.”
Em entrevista para o Alquimista, o professor explica sua principal linha de pesquisa: “a Química Supramolecular é uma estratégia que nos permite trabalhar e preparar as nanopartículas, principalmente na parte da funcionalização química da superfície”. Este processo permite que moléculas diversas (biomoléculas, como enzimas, peptídeos e anticorpos, moléculas e mesmo polímeros) sejam dispostas em uma outra superfície, de forma que suas propriedades sejam reproduzidas e os nanomateriais se tornem adequados para as aplicações desejadas.
O nanofluido magnético, por exemplo, demonstra essa lógica supramolecular para a preparação de nanomateriais. A partir de uma suspensão de nanopartículas, que contém magnetita no núcleo e outras moléculas de compatibilização com o solvente na superfície, constitui-se uma entidade molecular simultaneamente fluida e com propriedades magnéticas. “Essas moléculas na superfície controlam como as nanopartículas vão interagir com o meio”, explica o professor. Assim, a magnetita, que possui a propriedade de atração de metais e, originalmente, baixa afinidade com solventes como o óleo, após a funcionalização com moléculas hidrofóbicas pode passar a ter alta afinidade, tornando o líquido magnetizável –ou seja, o líquido passa a ser atraído por ímãs.
A aplicação de um produto como esse parece um pouco abstrata, mas Koiti dá exemplos de dispositivos que já utilizam desse mecanismo do fluido magnético. “A aplicação de um campo magnético tende a excluir materiais não magnéticos, fazendo com que flutuem e minimizando o atrito – uma característica de grande interesse, por exemplo, para evitar o desgaste de rotores girando em altas rotações, aumentando a sua durabilidade”. Quando há uma rotação em alta velocidade, o excesso de atrito causa um rápido desgaste das peças e gera calor, o que torna o mecanismo ineficiente. Um carro turbo, por exemplo, tem suas engrenagens girando entre 50 mil a 100 mil rpm; um disco de HD, por sua vez, gira em média 6 mil rpm – e ambos são utilizados por anos sem falhas. Para que isso seja possível, já se utilizam técnicas de nanotecnologia como a apresentada anteriormente, visando à redução de atrito e à preservação dos componentes.
Outra aplicação da nanotecnologia busca estabilizar a ação das partículas para poder manipulá-las. “Uma nanopartícula de ouro, quando entra em contato com outra, funde e gera uma maior, é muito instável”, comenta Koiti. Por isso, assim como na funcionalização, é necessário a ligação de outras moléculas com as nanopartículas. Esse processo faz uso de técnicas como a Química de Coordenação e de Complexo, no caso de nanopartículas metálicas.
Quando se pensa em nanotecnologia, muitas vezes este conceito é associado quase que instantaneamente com a ideia de reduzir o tamanho de partículas macroscópicas. No entanto, na Química já se lida com insumos muito pequenos. Um átomo, por exemplo, tem cerca de 0,1 nanômetro; o benzeno, 0,4 nanômetro. As nanopartículas, por sua vez, situam-se numa faixa que pode ir de 1 até 100 nanômetros.
Moléculas são entidades que têm composição e estrutura bem definidas, por isso é possível isolá-las e purificá-las. Já no caso de uma partícula de ouro, por exemplo, não é viável fazer essa separação, porque as forças de interação não são tão rígidas como aquelas nas ligações químicas. Justamente por serem mais fracas, essas forças nos metais permitem a mudança de forma e número de átomos – propriedade que é replicada nas nanopartículas.
Duas abordagens são usadas na preparação de nanopartículas. A primeira é concebida a partir da lógica de redução – conhecida como Top-down –, por meio da moagem de uma porção maior do material em porções menores, até alcançar o tamanho desejado. O problema desta técnica é que há a possibilidade destas partículas voltarem a se aglomerar quando a ação de força parar – resultando novamente em uma estrutura maior. Essa aglomeração geralmente é resolvida pela adição de surfactantes ou moléculas capazes de se ligarem à superfície no processo, estabilizando a reação.

A outra maneira de se produzir nanopartículas vai numa lógica contrária – conhecida como Botton-up –, na qual as nanopartículas são geradas a partir da ligação/junção de vários átomos ou moléculas menores, por processos químicos de auto-organização ou organização determinada, formando estruturas com dimensões nanométricas e características bem-de nidas.
É relevante destacar que materiais na escala nanométrica se comportam de maneira diferente de quando estão na sua forma micro/macroscópica – em parte, devido a efeitos eletrônicos, como no caso dos pontos quânticos. Essa mudança em como as propriedades se manifestam é consequência do aumento da razão da área de superfície do material em relação ao seu volume. Basicamente, quando dividimos um material em pedaços menores, o volume total é mantido, mas a área de superfície em contato com o exterior aumenta. Com a relação superfície/volume maior, ocorre também um aumento de energia no material, o que o torna mais reativo.

A nanotecnologia pode ser aplicada nas mais diversas áreas – e, inclusive, já está presente em alguns aspectos do dia a dia. Um exemplo prático são as nanopartículas de dióxido de titânio, incorporadas às tintas como pigmento branco e em cosméticos como filtros UV. A questão principal, porém, é saber qual o tamanho da lacuna entre as tecnologias desenvolvidas atualmente e o que efetivamente pode ser inserido no mercado.
Quando questionado sobre sua pesquisa em nanotecnologia –direcionada à condução de energia e fotoconversão –, Koiti fez questão de ressaltar a dificuldade em fazer com que os estudos desenvolvidos não só no IQ, mas nas universidades e institutos de pesquisa em geral, sejam de fato comercializados.
“Nós pesquisadores sempre queremos gerar alguma coisa. Definimos as condições de contorno do estudo e, dentro desses limites, nós fazemos a pesquisa. Temos um grau de liberdade de explorar as ideias”, conta o especialista.
“Agora, um produto tem suas condições de contorno definidas pela aplicação e precisa agradar ao mercado. Além de não ser tóxico e não causar problemas ambientais ,tem que ser viável comercialmente”.
Muitas vezes, pesquisas são desenvolvidas e cumprem o seu propósito. No entanto, não possuem o que é necessário para se tornarem parte do cotidiano: viabilidade para uma produção em quantidade, custo razoável e, além disso, compatibilidade com o que aquele nicho de consumidores deseja. “Nós, cientistas, estamos principalmente focados na compreensão dos fenômenos e das propriedades dos materiais, fundamentais para o desenvolvimento de aplicações. Mas o amadurecimento de uma dada tecnologia envolve a compreensão dos problemas nas condições de aplicação, ou seja, em como as propriedades dos nossos materiais devem ser ajustadas para atender a todos os requisitos necessários para se gerar produtos. Assim, é necessário ampliar nossa visão para entendermos quando e como os compostos químicos, as nanopartículas e os nanomateriais contribuem para gerar as qualidades desejadas nos produtos voltados para o mercado consumidor, para que possamos desenvolver algo que seja útil e aplicável no dia a dia”, naliza.
Apesar do nome, o elemento não é raro, mas possui propriedades luminescentes que podem ser manipuladas através da nanotecnologia
A visão humana está diretamente relacionada à capacidade de enxergar luminosidade. Os objetos re etem a luz, cujos feixes atravessam a córnea e outras camadas do globo ocular e chegam à retina, onde as células os captam e codi cam em sinais transmitidos ao cérebro. Lá, essa luz é nalmente convertida em imagens. Apesar da maioria das coisas re etirem a luz, algumas vão um passo adiante: elas emanam seu próprio brilho, em um fenômeno conhecido como luminescência.
A luminescência envolve a absorção de energia e sua posterior emissão. O assunto não é recente no campo da pesquisa, mas se encontra em alta tendência, com sua ampla gama de funcionalidades na área de segurança, medicina e outras. Este tipo de efeito pode ter diferentes causas e formas de manifestação, de modo que é subclassi cado em variadas categorias: por exemplo, a bioluminescência, como a dos vagalumes; a quimiossíntese, no caso das pulseiras neon usadas em festas; entre outras, derivadas de diferentes métodos.

Terras raras são minerais – mais precisamente, são constituídos de 15 elementos localizados no sexto período da tabela periódica e com número atômico que vai de 57 a 71 (Lantanídeos), além do Escândio (Z=21) e Ítrio (Z=39). Normalmente, são encontrados na natureza misturados a minérios de difícil extração. Apesar do nome, não são exatamente considerados elementos raros; a nomenclatura é consequência do fato de que, na época em que foram descobertos, eles eram encontrados somente na Escandinávia. Hoje, estes minerais estão disponíveis em várias localidades do mundo, então o nome já não faz mais tanto sentido – o Túlio, por exemplo, é o material menos abundante na natureza do grupo, mas ainda é mais comum do que o Ouro, a Prata e a Platina.
A China é responsável pela maior reserva e produção do insumo no mundo, enquanto o Brasil ocupa a terceira posição no ranking (21 milhões de toneladas), de acordo com o Ministério de Minas e Energia. Apesar de seu grande potencial, o Brasil não possui as tecnologias
necessárias para manter a cadeia produtiva – e acaba por importar, subutilizando seus recursos. Em 2022, o país ficou na 10ª posição entre as nações que mais produziram terras raras, com apenas 80Mt; uma grande discrepância para o 9° produtor, Madagascar, que produziu 960Mt no mesmo período.
Hermi Brito, professor do Departamento de Química Fundamental do IQUSP, pesquisa sobre materiais luminescentes de terras raras. Ele explica que o Brasil não explora bem seu potencial em participar desse mercado lucrativo, uma vez que é necessário investir mais nas técnicas de extração dos minerais. “Como esses 17 elementos têm propriedades químicas muito semelhantes, é uma vantagem enorme na hora de prepará-los para pesquisa. A dificuldade, no entanto, também está no fato de serem muito parecidos: eles ficam todos juntos, é muito difícil de separar”, comenta o pesquisador. No passado, a separação era feita por meio de sucessivas recristalizações e precipitações; atualmente, a extração por solvente é o método mais utilizado, mas ainda não foi encontrada a maneira mais eficiente de separá-los.
Os íons terras raras possuem muitas aplicações: entre elas, destacam-se a catálise automotiva, magnetos e baterias Ni-TRH. Uma pequena parcela é destinada para aplicação em fósforos, onde entram as propriedades de luminescência destes minerais. Os íons TR3+, por exemplo, que possuem orbitais 4f parcialmente preenchidos, detêm níveis de energia que permitem induzir os processos de excitação e de emissão de luminescência. Hermi explica como isso é possível com uso de uma nanoestrutura que é fabricada em laboratório: “a partir de um íon metálico – papel das terras raras – vamos colocar compostos (ânions ou moléculas neutras) em volta, de forma que eles se liguem e formem uma nova molécula”.
Com esta técnica, é possível projetar nanodispositivos moleculares conversores de luz. “Por conta das propriedades eletrônicas, o íon não absorve bem [a luz]. Assim, ele necessita do ligante para absorver e transferir, para que então haja a emissão de luz eficiente. Essas moléculas
servem para sensibilizar o íon”, explica Hermi. “Tem que conhecer química e física para saber lidar com os níveis eletrônicos. Começamos em 1982 a pesquisar isso aqui [no Instituto] e já preparamos mais de 500 novos compostos que não existem na natureza”.
Neste contexto, a nanotecnologia assume um importante papel para modelar as características desejadas do material luminescente final. “Utiliza-se de nanotecnologia para manipular o tamanho adequado para aquela propriedade. Às vezes, usamos 1% da terra rara na razão molar para manifestar a característica”, explica o professor. Existem vários métodos de preparação do material – e um muito eficaz é o de combustão. Através de uma reação exotérmica muito rápida, feita com óxidos terras raras, é possível formar novas nanopartículas luminescentes. Quando se constitui um composto de óxido, o sistema age como termoestável: ao invés de uma parte orgânica auxiliar o íon terra rara a absorver a luz, a temperatura extrema na qual são submetidos faz com que passem a se comportar de forma luminescente.

O especialista conta ainda que a maior vantagem de se utilizar terras raras está na maneira com a qual enxergamos a luz no espectro emitido. Quando se produz luminescência com um composto orgânico, normalmente a luminosidade é de banda larga. No caso das terras raras, por sua vez, os feixes produzidos são de banda fina, o que diminui o espectro da cor – e a luz resultante é
monocromática. Segundo Hermi, “a banda larga, você não consegue controlar. Agora, com o Európio, por exemplo, independente da posição do íon, vai ser sempre vermelho. Aí, você junta com os elementos que produzem azul e verde para formar uma luz branca”.

Não tem defeito, então é necessário gerar esse defeito, pois sem ele o sólido se apaga”, esclarece o pesquisador. “Assim, com o elétron preso nesse defeito da matriz, ele continua emitindo luz até conseguir voltar para sua posição [original]”. Tal defeito é fabricável pelo homem – e a manipulação da temperatura já é suficiente para causá-lo.
Como já mencionado, existem inúmeros tipos de luminescência – e há alguns deles que cabe à química estudar e entender. A explicação padrão para como essa ciência enxerga o fenômeno é: certos materiais possuem átomos que se excitam a partir de diferentes níveis de energia, o que faz com que seus elétrons saltem de uma camada menos energética para uma mais energética. É com base nessa diferença de energia que alguns materiais são capazes de emitir luz.
Um caso específico desse processo ocorre na luminescência persistente – fenômeno no qual o material continua emitindo luz por um período após o término do estímulo de irradiação, como acontece nas faixas pintadas nas estradas, que brilham à noite. “Funciona como se as moléculas tivessem um reservatório do que absorveram, e o elétron vai saltando aos poucos, de forma a prolongar sua luminescência”, explica Hermi. Esses materiais luminescentes permanentes são produzidos a partir de uma pequena porcentagem de íons terras raras misturados neles. A luz incidente faz com que as partículas fiquem excitadas, saiam da banda de condução e entrem em um band gap. “O problema dessa técnica é é que a matriz é construída como um cristal, com estruturas bem organizadas.
Outra classe deste fenômeno é chamada de quimioluminescência. Nela, a emissão da luz acontece a partir de uma reação química, em que um intermediário excitado é produzido e libera parte de sua energia na forma de fótons. As aplicações são variadas – na biologia molecular, por exemplo, a quimioluminescência é usada para detectar ácidos nucleicos e proteínas em experimentos de Southern blot e Western blot.
Uma das classes mais em alta no mercado, porém, é chamada de eletroluminescência – ela está presente, por exemplo, nos Dispositivos Orgânicos
Emissores de Luz (OLEDs), que possuem alto valor comercial. Os materiais deste tipo recebem energia de uma maneira mais direta, a partir de uma diferença de potencial. A televisão, por exemplo, é revestida por uma fina camada de material luminescente, o que confere o brilho à tela. Os OLEDs utilizam um mecanismo similar para funcionar, mas são considerados mais avançados e flexíveis – o caminho para um futuro com telas mais resistentes e finas.

Hermi conta que a luminescência por terras raras já possui muitas aplicações nos dias de hoje –e, através da pesquisa, os cientistas buscam ainda mais maneiras de torná-la útil às necessidades da sociedade. “De uns 10 anos para cá, se fala muito sobre utilizar sensores de temperatura luminescentes; então, a partir de uma mistura em que um elemento brilha na temperatura ambiente
e outro brilha conforme ela cai, o calor pode ser medido pela mudança de cor da luz”. Outro uso possível e inédito da luminescência por terras raras está em marcadores de segurança luminescentes, que são aplicados em cédulas de euros e passaportes. Além de fazer com que brilhem sob a luz ultravioleta, servem também como forma de verificar a autenticidade a partir da resposta luminosa, como uma impressão digital.
Apesar de a pesquisa envolvendo íons terras raras já existir no IQ desde a década de 1970 – e centenas de novos compostos luminescentes já terem sido descobertos até hoje –, Hermi lamenta a falta de comunicação entre universidades e empresas. O potencial do mercado nesta área é enorme, mas ainda são poucas as companhias brasileiras que investem nela.
Atualmente, Hermi coordena um Projeto Temático neste assunto junto à FAPESP, que abrange várias bolsas de pesquisas e parcerias com outras universidades públicas do Estado de São Paulo e de outras instituições do país. “Temos também ótimas relações bilaterais com universidades internacionais, para trocar conhecimento, além de um sinergismo enorme entre nós e o grupo do professor Malta da Universidade Federal de Pernambuco. Há muito potencial na pesquisa brasileira”, finaliza.
Adjuvantes fabricados em laboratório do IQUSP podem ajudar na confecção de vacinas mais eficazes e seguras
Com a pandemia de COVID-19 e o forte movimento negacionista subsequente, o assunto “vacinas” tornou-se recorrente nos últimos anos. A descoberta do princípio de imunização aconteceu ainda no século XVIII, pelo médico inglês Edward Jenner – que resultou na erradicação da varíola. Com a promessa de tornar as pessoas imunes às doenças antes mesmo de serem infectadas, a técnica se desenvolveu muito ao longo dos séculos.
Vacinas são uma forma de imunização ativa, que se utilizam de um patógeno (organismo causador de doenças) ou partes dele para estimular a produção de anticorpos e gerar uma memória imunológica – o que torna o indivíduo resistente àquele vetor quando exposto novamente.
O agente patogênico pode ser uma bactéria, vírus ou outros tipos de moléculas. Ele é incorporado na vacina de diferentes formas: como microrganismos inteiros inativados; RNA mensageiro, que contém a fórmula para a produção de anticorpos ou de vetores virais; ou como genes de vírus isolados, que não estão aptos para se replicarem e causarem infecção.

Esses agentes possuem um antígeno, que é detectado pelo organismo como um “corpo estranho” e leva à ativação do sistema imune e produção de anticorpos. Ao mesmo tempo em que esse processo acontece, cria-se também uma memória imunológica, de forma que se o indivíduo vacinado entra em contato com o mesmo antígeno futuramente, ele ativa as defesas que construiu contra o patógeno específico e não desenvolve a doença.
O processo de produção de uma vacina é complicado e exige várias etapas de verificação, que podem levar meses ou até anos. Em sua composição, são utilizados diferentes ingredientes, como conservantes, estabilizadores, surfactantes e outros. Algumas vacinas podem incluir também imunoadjuvantes – ou seja, substâncias que atuam para amplificar a resposta do sistema imunológico.

Adjuvantes podem ser categorizados como substâncias causadoras da formação de depósito no local da injeção, agentes de transporte de antígenos até as células imunes ou estimulantes do sistema imunológico. Dessa forma, sua composição pode variar dependendo do seu objetivo: há os adjuvantes a base de óleo, os lipossomas, entre outros. Atualmente, os tipos mais utilizados em vacinas para humanos são feitos de sais de alumínio, hidróxido ou fosfato.
O Laboratório de Biocolóides do Instituto de Química da USP tem como uma de suas linhas de pesquisa o estudo de estruturas supramoleculares com aplicações terapêuticas. Em especial, investiga-se arranjos que possam agir como adjuvantes, a fim de colaborar na corrida contra a imunização da população brasileira.
Uma recente tese de doutorado desenvolvida no laboratório, por exemplo, explora novos imunoadjuvantes catiônicos que interagem com proteínas de carga oposta e material genético. “Aqui, a gente testa diferentes tipos de adjuvantes e vê que tipos de respostas imunológicas são geradas”, conta Ana Maria Carmona-Ribeiro , Professora Titular do Departamento de Bioquímica e responsável pelo laboratório.
A pesquisadora explica o papel do adjuvante em uma vacina: “um antígeno, a gente chama de subunidade, é muitas vezes um peptídeo ou uma molécula pequena – que sozinha não gera uma resposta imunológica forte o suficiente. Então, é necessário acoplar, fazer um sistema da molécula, a partir de interações físicas ou covalentes, para formar um particulado”. Dessa
forma, o antígeno – que antes não gerava uma resposta – passa a compor uma nanoestrutura que vai estimular uma reação do sistema imune. As nanopartículas normalmente são detectadas da mesma maneira que um vírus: elas sofrem endocitose, ou seja, são ingeridas por células dendríticas, são processadas e posteriormente apresentadas por elas a outras células de defesa do organismo.
Os adjuvantes já aprovados e comercializados mundialmente, bem como aqueles ainda sendo estudados, são do tipo catiônicos – isto é, eles têm carga positiva e, portanto, carregam antígenos de carga negativa, a fim de manter o pH neutro. “Quando formamos o arranjo supramolecular, os exemplos mais simples são os lipídios. Eles se associam por interações intermoleculares, formando agregados que podem ser bicamadas catiônicas. Tanto as proteínas como os ácidos nucleicos são negativamente carregados. Então, com estruturas catiônicas, é possível uma interação eletrostática para formar a vacina desejada”, explica a especialista.
Nas pesquisas para descoberta de novos adjuvantes, geralmente é utilizado um antígeno-modelo – a proteína ovalbumina – e, a partir dele, são testados os diferentes candidatos para analisar as respostas imunes. Ana Maria relata que é importante entender se a resposta produzida é humoral, celular ou mista, a fim de identificar se aquela reação vai ser suficiente contra as especificidades de cada doença. “O câncer, por exemplo, necessita de uma resposta celular muito forte para acontecer a imunização. Tem que ser de tal maneira que os linfócitos T consigam lisar as células cancerosas”, completa Ana.

As respostas podem agir em conjunto ou podem ser mais direcionadas, de acordo com as propriedades da doença. Na imunidade humoral, os linfócitos B – células presentes no plasma sanguíneo que atuam como defensoras do organismo – reconhecem os antígenos e então produzem anticorpos. A imunidade celular, por sua vez, é mediada pelos linfócitos T – que emitem respostas antivirais e eliminam células infectadas, de forma a produzirem citocinas que regulam a resposta imunológica contra os antígenos.
Para a análise do comportamento das vacinas com adjuvantes, é necessário testar as respostas imunológicas produzidas por organismos vivos. Dessa forma, o laboratório conta com a colaboração do Instituto Butantan para realizar experimentos em ratos e observar os efeitos dos complexos antígenos-adjuvantes. “A gente faz um esquema de imunização com uma primeira dose, depois o reforço. Um protocolo de 7 a 14 dias para observar os anticorpos – IgG para resposta humoral e IgG2a para celular, ou ambos no caso de ser ambivalente”, explica Ana Maria. Além da análise de anticorpos, para determinar outras substâncias produzidas pelas células do sistema linfático, os linfonodos são retirados desses animais, cultivados e sua secreção de citocinas é examinada por quantidade e tipo.
Outra linha de pesquisa no laboratório envolve investigar métodos para otimizar a atividade antimicrobiana contra patógenos. Tudo começou com alguns testes em que lipossomos de bicamadas catiônicas foram aplicados contra bactérias em cultura; com os resultados promissores, os pesquisadores passaram a utilizar polímeros e descobriram que esses são muito ativos e potentes na ação contra micróbios.
Ana Maria conta que, desde 2006, ela e seu grupo têm trabalhado com um polímero catiônico específico, que é formado por uma cadeia de peso molecular alto ou intermediário. “Esse polímero é
cheio de cargas fixas de amônio quaternário; então, analisamos que ele chega na parede celular das bactérias Gram-positivas, Gram-negativas ou fungos e interage com os biopolímeros da parede celular. Depois, vimos através de microscopia eletrônica de varredura que eles arrancam estes [biopolímeros] da parede”.
A partir de uma série de pesquisas envolvendo esse processo, surgiu a ideia de utilizar estes polímeros catiônicos como adjuvantes em vacinas. Eles possuem carga oposta às proteínas normalmente utilizadas como antígenos, de forma que se emaranham e formam nanopartículas. Um dos benefícios dessa estrutura é a praticidade para chegar nos linfonodos, dado o seu tamanho nano. Ana Maria explica que um problema comum nas vacinas, por exemplo, é o acúmulo de substância no sítio de injeção – que fica parada no músculo, esperando o macrófago transportá-la. Já no caso das nanopartículas, elas vão direto para o sistema linfático.
O Laboratório de Biocolóides já detém algumas patentes que envolvem o assunto; no entanto, nenhuma é aplicada atualmente na fabricação de vacinas utilizadas pela população brasileira.

como ferramenta de investigação criminal
Novo livro produzido por pesquisadores do IQUSP expõe como a nanoquímica pode auxiliar na ciência forense
A Nanotecnologia Forense é uma área do conhecimento que une o segmento da Química – o qual estuda as matérias em escala nano (10 m) e possibilita enxergar e interpretar dados para além do olho nu – com o campo da investigação criminal, que busca por evidências para apurar crimes. Em 2024, este extenso tema, embora ainda pouco explorado, recebeu um novo capítulo na literatura científica brasileira: no dia 11 de setembro, o professor Henrique Eisi Toma compareceu à abertura do Congresso Nacional de Criminalística, em São Luís (MA), para lançar o livro “Nanotecnologia Forense”, o qual escreveu em parceria com docentes e pesquisadores do Instituto de Química da Universidade de São Paulo.
Henrique Toma é Professor Titular do Departamento de Química Fundamental e coordena o Laboratório de Química Supramolecular e Nanotecnologia do IQUSP. Ele conta que recebeu o convite para escrever o livro em junho de 2024: “falei que não ia dar tempo; ele [o responsável pela Polícia Científica] me disse que, apesar de tantas áreas presentes no Congresso, havia notado um buraco que precisava ser preenchido por nós, pois a nanotecnologia está presente em tudo. Então, juntei o pessoal mais próximo que trabalha com nano e, em dois meses, saiu um livro”.
O especialista já havia publicado dois volumes sobre Química Forense. Então, nesta edição, decidiu segmentar mais o assunto, com a perspectiva de que a área ainda vai se expandir e haverá a possibilidade de novos lançamentos neste tema. Além de Toma, a obra teve outros 5 coautores: Kalil Christian Figueiredo Toledo, Professor Doutor no IQ; Alceu Totti e Marcelo Nakamura, especialistas de laboratório; Artur Henneman, doutorando em
em nanotecnologia; e Ulisses Condomitti, atual Perito Criminal Oficial do Estado de São Paulo, com pós-doutorado em Nanotecnologia.
“Aqui no Brasil, eles [a Justiça] não possuem profissionais nem equipamentos especializados nessa análise nano. Por isso, fui provocar, questionar isso no congresso. Não podemos ficar atrasados – lá fora, eles já estão muito mais avançados. Algumas pessoas receberam bem, outras nem tanto. Muitas viram como crítica, mas também houveram aquelas que enxergaram como estímulo”, relata o professor.
O trabalho de coleta de evidências ajuda a compreender as circunstâncias do crime. Trata-se de uma técnica muito delicada, uma vez que as provas tendem a ser facilmente camu adas ou alteradas pelos resíduos da área do delito. É justamente a elevada sensibilidade da nanotecnologia que a torna tão útil –de forma a desvendar detalhes antes encobertos e ainda preservar a autenticidade dos vestígios.
Quando se lida com nanopartículas, os traços são apresentados em quantidades ínfimas. Assim, para serem analisados, são necessários equipamentos de microscopia avançada, espalhamento de luz atômica e outras ferramentas que diferem da química forense ordinária – a qual, de acordo com o especialista, já não é mais capaz de resolver todos os novos problemas. Ele dá o exemplo de uma cédula de dólar, a qual apresenta quantum-dots que podem ser destacados com a iluminação de luz negra: “a faixa, quando se passa um imã, vai ter nanopartículas dispersas, revelando um marcador de autenticidade”, explica. “Aquilo que vemos na TV quando pensamos em investigação forense não está nem perto da realidade. É macroscópico, coisa do passado. Hoje em dia, o nano, num hiper-microscópio, você detecta uma quantidade ínfima daquilo que coletou – e, assim, analisa detalhes super específicos”.
Pense no caso clássico da ciência forense: a busca por impressões digitais latentes (ocultas), a fim de revelar uma identidade na cena do crime. Toma explica que, com a aplicação de nanopartículas, a impressão é revelada – mas é possível ir ainda mais a fundo e detectar ácidos graxos também. Já com uma análise utilizando partículas fluorescentes, pode-se examinar os elementos químicos dessa marca – e descobrir se o ator estava manipulando alguma toxina, droga ou algo do tipo. No entanto, com a escassez de recursos e profissionais especializados, atualmente a investigação limita-se ao formato das digitais.
Outro exemplo em que a nanotecnologia potencializa a investigação – que é inclusive citado no livro – refere-se à balística e à análise de disparo de tiro. O professor explica: “quando acontece um disparo, sai aquela fumaça do revólver e ela gruda na arma e no que está próximo. Quando se coloca estas partículas sob inspeção, é possível desvendar a distância do disparo, o tipo de cápsula, o tipo de espoleta e de metal que havia no revólver. E, a partir disso, destrinchar todo o cenário do crime –só a partir desse pozinho”.

“A nanotecnologia reaviva toda uma parte da investigação para aquilo que a gente não enxerga, e isso é lindo.”
– Henrique Eisi Toma

As ocasiões nas quais a nanotecnologia pode ser útil para a investigação criminal são ilimitadas – seja para verificar falsificação de documentos e assinaturas, seja para detectar uma rasura ou adulteração coberta pelo tempo.
Henrique Toma conta que, apesar de ter publicado seu terceiro livro no tema forense, esta não é sua linha de pesquisa principal. Para ele, a nanotecnologia já está presente em quase todas as coisas, mesmo que de forma não explícita. Assim como ele enxerga esta ciência de maneira holística, como uma área que engloba os mais variados assuntos, o ramo forense também lida com conhecimentos que vão além do químico e do biológico, passando também por toda a área de humanidades.
O professor conta que o interesse sobre o assunto veio da prática, fruto de uma parceria com a Polícia Científica do Estado de São Paulo. Em entrevista ao Alquimista, ele revelou que, por muitos anos, colaborou em investigações de forma informal. “Quando a Regina ainda atuava, fazíamos colaborações muito de perto. Se tinham problemas na Academia Forense, traziam aqui para a gente discutir. Nossos equipamentos permitem uma análise mais profunda. Era quase uma rotina”. Não à toa, Regina Pestana, a qual menciona, é a mesma pesquisadora que coordenou seus dois primeiros volumes de Química Forense; na época, ela trabalhava como perita criminal de classe especial, o que ajudou a cultivar a relação entre o Instituto e o Departamento Policial.
O professor Toma relata que, com a aposentadoria de Regina, a colaboração chegou ao fim. Ele lamenta, mas guarda boas recordações do passado: “me lembro de uma situação em que
a polícia achou quadros de arte no porta-malas de uma figura política de prestígio. Trouxeram as peças para o Instituto e, com nossos equipamentos, pude analisar a composição do quadro, que estava coberto por cera. Através da fibra óptica, confirmamos que eram Portinaris legítimos”, finaliza.
As principais publicações recentes sobre o Instituto de Química
Combinação de drogas tem ação promissora contra células cancerígenas

Veja
Uma combinação de duas drogas foi capaz de suprimir tumores de uma forma não convencional. Em vez de inibir a divisão das células tumorais, como fazem os medicamentos mais conhecidos, a estratégia consiste em superativar a sinalização dessas células a ponto de carem estressadas. Outra droga, então, ataca justamente essas que estão sob estresse. A descoberta foi publicada em artigo na revista Cancer Discovery e teve como um dos autores o docente Marcelo Santos da Silva, do IQUSP.
Veja Saúde
“Há muita desinformação circulando sobre a nossa alimentação”
Em entrevista exclusiva, a pesquisadora e docente do Instituto de Química da USP, Alicia Kowaltowski, compartilha re exões sobre o metabolismo humano e o fazer cientí co. Para ela, ainda há muita pseudociência e desinformação circulando sobre a nossa alimentação e como os alimentos são processados pelo corpo – prática que precisa ser combatida com educação sobre ciência.
Método simplifica preparo de amostras para medição ligada à presença da diabetes
Jornal da USP
Pesquisadores do IQUSP desenvolveram um método que expande as possibilidades de avaliar o funcionamento das ilhotas pancreáticas – células que controlam o nível de açúcar no organismo e cujo mau desempenho está ligado à diabetes. A técnica simpli ca a preparação das amostras de ilhotas, permitindo medir o consumo de oxigênio e ter ideia de sua funcionalidade com o uso de vários equipamentos, sem necessidade de materiais exclusivos, o que poderá aprimorar diagnósticos e testes de medicamentos. Os resultados do estudo foram publicados em artigo na revista cientí ca Molecular Metabolism.
CEPID Redoxoma

Cientistas descobrem mecanismo que impede morte celular por ferroptose e torna células cancerosas mais resistentes
Em artigo publicado na revista Nature, cientistas descreveram como o acúmulo de 7-dehidrocolesterol (7-DHC), um lipídio precursor do colesterol, suprime a morte celular por ferroptose e pode favorecer a sobrevivência de células cancerosas. O estudo foi liderado pelo cientista brasileiro José Pedro Angeli, atualmente na University of Würzburg (Alemanha), e contou com a colaboração de pesquisadores do Instituto de Química e Instituto de Biociências da USP, além de cientistas da Alemanha, Estados Unidos e Canadá.
Pesquisa usa técnica inovadora e descobre novos candidatos vacinais contra a esquistossomose
Aplicando a técnica de phage display, pesquisadores do IQUSP e Instituto Butantan descobriram alvos do parasita Schistosoma mansoni que podem ser e cazes como candidatos vacinais contra a esquistossomose. No estudo, publicado na revista NPJ Vaccines, foi possível expressar 99,6% de 119.747 peptídeos do parasita, atingindo uma cobertura abrangente do proteoma de S. mansoni.
Rádio USP
Pode ser possível prevenir e tratar inflamações com menos efeitos colaterais
Em entrevista para a Rádio USP, a docente Flavia Carla Meotti conta um pouco sobre sua mais nova patente: ‘Composto para a prevenção e/ou tratamento de in amações’. “Usando um método de triagem virtual, selecionamos alguns compostos com potencial de inibir uma enzima responsável pela in amação, a mieloperoxidase. A inibição desta enzima é muito interessante para combater a in amação crônica, tendo em vista que ela está exclusivamente presente na in amação e não participa de outros processos siológicos”, explica Meotti.

Trabalhe com o que você gosta e você não vai ter que trabalhar é um ditado um pouco polêmico, considerando uma sociedade em que, na maioria das vezes, trabalhar não é exatamente uma questão de escolha. No entanto, alguns indivíduos podem ter a sorte de encontrar um ofício gratificante. Laerte Vilela da Silva é funcionário técnico no Laboratório de Química Fundamental do Instituto de Química da USP e, após 52 anos de casa, se aposentou poucos dias antes de completar seus 75 anos.
“To aqui todo esse tempo e gosto do que eu faço”
– Laerte Vilela
AQ: Laerte, você está aqui no IQ já há muito tempo. Como o senhor chegou aqui?
Laerte: “Um colega meu, com quem eu jogava futebol lá em Itapevi, trabalhava na prefeitura daqui – chamava FUNDUSP – e ele me disse que ia ter um concurso para funcionário. Eu fiz a inscrição na Reitoria velha, passei e só me chamaram depois de um ano e meio. O concurso valia por dois anos, então eu já estava até com medo! Entrei em outubro de 1971 e fui trabalhar no bloco 5.
AQ: Você sempre esteve no mesmo setor? Como foi sua experiência ao longo desses anos?
Laerte: Para me aposentar, eu nem precisei pegar tempo do meu trabalho antes daqui. Comecei no bloco 5, onde tinha o almoxarifado e o pessoal fazia pesquisa – professora Liliana, professora Vera. Sempre ajudei na parte prática das aulas, não tinha nenhuma formação; fui aprendendo conforme ia mexendo com as coisas, só que eu mexia muito com cloreto, acetona, benzeno, que hoje são proibidos. Aí, em 2005 eu desenvolvi um problema de saúde. Eu, junto com uma técnica chamada Nilza, a gente mexia muito com solventes e reagentes; eu peguei hepatite e faço o tratamento até hoje. Então, eu vim aqui para o Laboratório de Química Fundamental e [desde então] só lido com vidraria, essas coisas. [...]
Mas assim, trabalhar aqui foi muito bom para mim, porque em 1974 eu fiz concurso na Polícia Militar – só que a professora Blanca [Wladislaw], que era minha chefe, falou para eu não ir embora, que ia melhorar. Sou muito grato a ela, porque se tivesse saído em 74, se fosse tenente com patente, talvez eu já estaria aposentado, mas não teria o sossego e a estabilidade financeira que eu tenho hoje como funcionário da USP.
AQ: Foi praticamente uma vida trabalhando aqui, com certeza muita coisa mudou nesse tempo. Quais foram as mudanças que você mais sentiu aqui, tanto na USP quanto no IQ?
Laerte: São muitas mudanças. Lembro que aqui a gente tinha que ajudar os alunos, porque não tinha esmeril; aí, a gente precisava furar cortiça ou rolhas de borracha. Hoje em dia não, tem todos os materiais bonitinho. Se vê também que hoje aqui na Química é tudo fechado, tem catraca; antes era tudo bambu. Melhorou bastante quanto à segurança para chegar aqui.
AQ: Certamente, com mais de 50 anos convivendo com os alunos, docentes e outros funcionários, você conheceu muita gente. Teve algum momento que te marcou nessa jornada?
Laerte : Não lembro de tantas coisas específicas. A gente tinha um time de futebol, ali do lado do Cepam tinha um campo de terra, onde jogávamos de dia de semana. A maioria desse pessoal já se aposentou. Também [me lembro] quando eu fui homenageado pelos alunos que estavam se formando – 3 turmas já me escolheram, tenho a chave que recebi aqui comigo no meu armário. [...]

Essa turma aqui, de 1989, também homenageou essa professora Ana Rosa Kucinski, que há uns 50 anos foi presa e depois sumiu. Me lembro dela, trabalhava lá no bloco 5, conversava com ela, já me ajudou muito.

AQ: Por que a escolha deste momento para se aposentar? E quais são seus planos para o futuro como aposentado?
Laerte: Eu tenho uma filha de 16 anos, do meu segundo casamento, e em 2019 minha esposa faleceu de câncer. Hoje em dia moramos só eu e ela. Tenho netos até mais velhos, mas agora nessa fase nós precisamos um do outro. Ela está no segundo ano do [ensino] médio né, aí nas férias escolares vamos viajar – sábado e domingo, vamos dar uma visitada ali em Praia Grande. Depois, quando ela estiver formada e mais independente, quero viajar um pouquinho. Já falei para o pessoal aqui do laboratório, onde eu moro tem lugar para fazer exercício, andar de bicicleta. Quero aproveitar isso, porque se eu for ficar o dia inteiro ali na frente da televisão, cansa.
A professora mencionada por Laerte, que foi homenageada pela turma de 1989, é Ana Rosa Kucinski. Desaparecida política, Ana atuava no Departamento de Química Fundamental do IQUSP. Era militante da Aliança Nacional Libertadora (ANL) e desapareceu em abril de 1974, quando foi presa junto a seu marido por agentes do Estado Brasileiro. No livro “K: Relato de uma Busca”, seu irmão Bernardo Kucinski, jornalista e também militante, narra através da ficção a busca de seu pai pela filha, que nunca foi encontrada.

Entre laboratórios e instalações multiusuários, o IQ integra uma rede interdisciplinar especializada em nanotecnologia
Parte de um programa nacional de incentivo à nanotecnologia, o SisNANO possui uma sede para pesquisas e projetos no IQUSP
A nanotecnologia é um assunto complexo que tem se desenvolvido muito nos últimos anos. Presente em vários aspectos do dia a dia, as possibilidades de manipulação dessa técnica são intermináveis. Em julho de 2019, a Iniciativa Brasileira de Nanotecnologia (IBN), por meio do governo federal, foi instituída como principal programa de incentivo a esta ciência no país, visando promover o aumento na produção de pesquisas e soluções nanotecnológicas. Atualmente, existem mais de 250 mil publicações acadêmicas sobre o tema, de acordo com dados da plataforma Web of Science.
A IBN atua em várias frentes, como regulação, fomento e nanciamento às empresas e instituições. Um de seus principais focos é o Sistema Nacional de Laboratórios em Nanotecnologias, mais conhecido como SisNANO – onde são feitas as pesquisas mais importantes do país neste assunto. Trata-se de um conjunto de laboratórios direcionados à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, com acesso aberto a instituições públicas e privadas mediante a submissão de propostas de projetos PD&I ou requisições de serviços. Inserido neste conjunto, existe ainda o subgrupo SisNANO-USP – o qual congrega laboratórios de três campi da Universidade de São Paulo: Capital, Ribeirão Preto e São Carlos. A rede tem foco em pesquisas aplicadas à saúde, meio ambiente e energia, entre outros temas.
O SisNANO da USP-Capital está envolvido com vários outros laboratórios, sediados no Instituto de Química e na Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Conta com uma estrutura especializada para sua área de pesquisa, voltada para o desenvolvimento físico-químico e bioquímico de nanomateriais, assim como de nano uidos, catalisadores e outros.
O Professor Titular do Departamento de Química Fundamental, Koiti Araki, é o coordenador geral do laboratório. Ele explica que o foco de atuação são as áreas de materiais, saúde e energia, as quais impactam diretamente na sociedade. “O papel do SisNANO é auxiliar as empresas e grupos de pesquisa a desenvolver ciência, tecnologia e inovação, baseadas em nanosistemas”, completa. O laboratório também possui uma forte parceria com a Unidade Embrapii IQSint-USP: Insumos Químicos e Bioquímicos Sintéticos, uma iniciativa do IQ criada para ampliar as colaborações e patrocínios entre a academia e o mercado privado. Juntos, os dois projetos buscam gerar novas tecnologias e produtos na área de insumos.
Robson Guimarães, doutor em química pelo IQUSP, conta que sua experiência no laboratório como pesquisador colaborador foi uma grande oportunidade de aprendizado. “Eu fazia iniciação cientí ca durante minha graduação com o professor Henrique Toma – meu primeiro contato com nanotecnologia. Estudava células solares sensibilizadas por corante. Durante essa experiência, tive a oportunidade de conhecer o Koiti,

com quem sempre conversava sobre os experimentos. Ele me co-orientou”, conta o químico, que depois fez o seu doutorado e pós-doc também sob orientação de Koiti.
O SisNANO proporciona o desenvolvimento dos pesquisadores e de suas hipóteses para novas descobertas tanto na parte prática quanto na teórica. Guimarães conta, por exemplo, que sempre se interessou pela área mais ‘mão na massa’: “a gente tinha a parte dos experimentos, na qual você podia estar sintetizando uma nova nanopartícula, montando dispositivos eletrodos, colocando reagentes; e aí, isso se conectava com o teórico, mais na parte de previsão de propriedades na modelagem de novas moléculas”.
O quesito para escolha da área de preferência não se limita somente ao caráter teórico-prático da pesquisa. A vasta interdisciplinaridade da nanotecnologia permite o desenvolvimento de inúmeras linhas de pesquisa no laboratório – muitas vezes, com apoio de pesquisadores de outras unidades da USP, como a Escola Politécnica e a Faculdade de Medicina. Guimarães relata: “as diferentes linhas de pesquisa do próprio SisNANO me proporcionaram uma oportunidade incrível de aprendizado. Ver aplicações em áreas totalmente distintas, os equipamentos disponíveis, tudo isso me deu uma visão bem abrangente quanto à carreira”.
Em relação à missão de expandir a nanotecnologia, as empresas são grandes agentes dessa disseminação – seja ao disponibilizar ou usufruir de um produto gerado, seja no investimento das pesquisas. Esse formato de parceria é responsável por viabilizar inúmeras pesquisas ainda em andamento ou já concluídas. O SisNANO tem variados projetos com empresas privadas, sobretudo em pesquisas que
buscam inovação para o mercado. Guimarães defende que essa colaboração é muito bené ca para ambos os lados: “a vantagem da pesquisa feita a partir da parceria com a empresa é seu direcionamento para um potencial mercadológico. [...] Devemos usar desses recursos de empresas privadas para fazer com que a Universidade cresça – tanto no aspecto pesquisa, como no seu papel social de aumentar a competitividade da indústria nacional e a formação de pro ssionais”.
O químico conta ainda que, durante o seu doutorado, teve a oportunidade de participar de uma pesquisa no laboratório junto a uma empresa privada. Foi quando ele percebeu a distância de expectativas e realidades entre as duas instituições, ao se tratar de transformar a pesquisa em um produto viável para o mercado.
A cooperação entre academia e empresas já rendeu bons frutos à sociedade, no que diz respeito à nanotecnologia. E as perspectivas para o futuro são ainda mais promissoras, aponta Koiti: “todas as coisas já estão contaminadas pelas ideias da nanotecnologia. São iniciativas que começaram bem pequenas e, agora com mais maturidade, se tornam produtos”.
Durante a pandemia de Covid-19, por exemplo, foi descoberto em laboratório um ativo que interage com o oxigênio, de forma a deixá-lo mais reativo. Essa propriedade confere ao nanomaterial a capacidade de eliminar microrganismos – o
microrganismos – o que foi muito explorado na época, a partir do seu uso como descontaminante de ação prolongada. Dois produtos foram desenvolvidos e comercializados a partir dessa descoberta: uma máscara de proteção com e cácia de 12 horas e um álcool-gel em creme com efeito de 4 horas, ambos pertencentes à marca Phitta.

Outro caso de sucesso na produção de inovação a partir de pesquisas acadêmicas aconteceu durante o pós-doutorado de Robson Guimarães. “Foi nesse período que descobrimos uma nova nanopartícula que tinha uma aplicação bastante interessante”, diz. Devido às suas propriedades, os pesquisadores perceberam que ela poderia ser utilizada como um novo agente de contraste para ressonância
magnética, em substituição ao produto atualmente comercializado no mercado. “[A nanopartícula] é tão boa quanto a utilizada no contraste atual, o platô de gadolínio. Simula suas propriedades, mas não envolve metais pesados e possui uma boa biocompatibilidade na sua aplicação”. Junto com Khallil Taverna Chaim, pesquisador em física médica, Guimarães montou uma startup para conseguir o licenciamento da patente desta tecnologia – e, posteriormente, disponibilizá-la para uso clínico.
Para o professor Koiti, a nanotecnologia é um espaço que interage com diversas áreas, além de uma oportunidade para as pessoas aprenderem. “Precisamos de pessoas criativas, que façam novas descobertas, desenvolvam novas teorias. Elas necessitam ser esforçadas e se interessarem por ciência e tecnologia”, naliza.