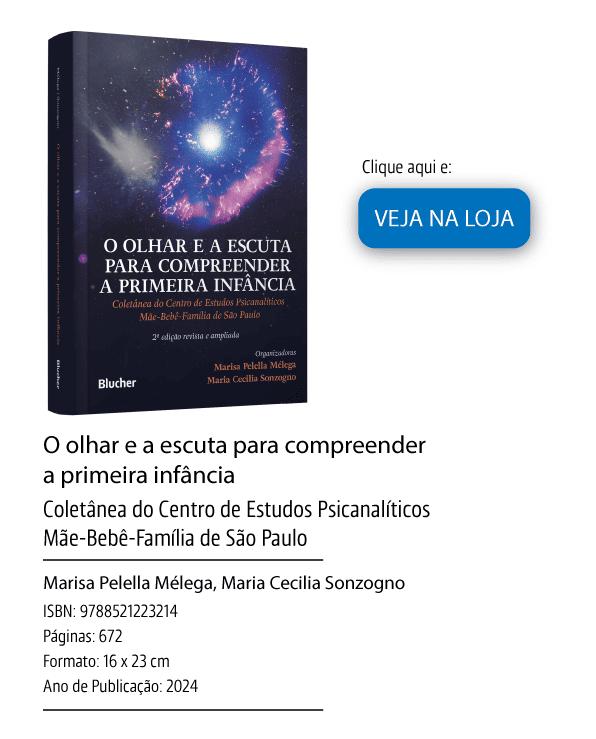O OLHAR E A ESCUTA PARA COMPREENDER A PRIMEIRA INFÂNCIA
Coletânea do Centro de Estudos Psicanalíticos
Mãe-Bebê-Família de São Paulo
2ª edição revista e ampliada
Organizadoras Marisa Pelella Mélega
Maria Cecilia Sonzogno
O OLHAR E A ESCUTA PARA COMPREENDER
A
PRIMEIRA INFÂNCIA
Coletânea do Centro de Estudos Psicanalíticos
Mãe-Bebê-Família de São Paulo
Conferências do Evento Tavistock – Martha Harris, 1988
Conferências Comemorativas dos 75 Anos da Tavistock, 1995
Organizadoras
Marisa Pelella Mélega
Maria Cecilia Sonzogno
Colaboração
Daisy Maia Bracco
2a edição revista e ampliada
O Olhar e a escuta para compreender a primeira infância:
Coletânea do Centro de Estudos Psicanalíticos Mãe-Bebê-Família de São Paulo
© 2024 Marisa Pelella Mélega e Maria Cecilia Sonzogno (organizadoras)
Editora Edgard Blücher Ltda.
Publisher Edgard Blücher
Editor Eduardo Blücher
Coordenador editorial Rafael Fulanetti
Coordenação de produção Andressa Lira
Produção editorial Ariana Corrêa
Preparação de texto Maurício Katayama
Diagramação Guilherme Salvador
Revisão de texto Marco Antonio Cruz
Capa Laércio Flenic
Imagem da capa iStockphoto
Rua Pedroso Alvarenga, 1245, 4o andar 04531-934 – São Paulo – SP – Brasil Tel.: 55 11 3078-5366 contato@blucher.com.br www.blucher.com.br
Segundo o Novo Acordo Ortográfico, conforme 6. ed. do Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, Academia Brasileira de Letras, julho de 2021.
É proibida a reprodução total ou parcial por quaisquer meios sem autorização escrita da editora.
Todos os direitos reservados pela Editora Edgard Blücher Ltda.
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) Angélica Ilacqua CRB-8/7057
O olhar e a escuta para compreender a primeira infância : coletânea do Centro de Estudos Psicanalíticos Mãe-Bebê-Família : São Paulo / organizado por Marisa Pelella Mélega, Maria Cecilia Sonzogno ; colaboração de Daisy Maia Bracco. – 2. ed. – São Paulo : Blucher, 2024.
672 p. : il.
Conferências do Evento Tavistock – Martha Harris, 1988
Conferências Comemorativas dos 75 Anos da Tavistock, 1995
Bibliografia
ISBN 978-85-212-2321-4
1. Psicoterapia infantil 2. Psiquiatria da primeira infância
3. Mãe e lactente – Estudo de casos 4. Bick, Esther, 1902-1983
5. Centro de Estudos Psicanalíticos Mãe-Bebê-Família - História I. Mélega, Marisa Pelella II. Sonzogno, Maria Cecilia III. Bracco, Daisy Maia
24-4749
CDD 618.928914
Índice para catálogo sistemático: 1. Prisioneiros - Psicologia
Conteúdo
Parte I
Observação da Relação Mãe-Bebê na Família – Método Esther Bick
1. Metodologia da Observação da Relação Mãe-Bebê na Família 63
Marisa Pelella Mélega
2. A prática da Observação da Relação Mãe-Bebê e sua contribuição à formação analítica 79
Marisa Pelella Mélega com a colaboração de Beatriz Tupinambá
3. A especificidade do método de observação de bebês 87
Daisy Maia Bracco
4. Um bebê se desenvolve: reações a situações de frustração 97
Isaias Kirchbaum (in memoriam)
5. Considerações sobre o papel materno na sociedade atual 103
Isabel Menzies Lyth
Parte II
Supervisão
6. Seminário de Observação de Bebês realizado com a sra. Esther Bick na Associação Psicanalítica Uruguaia em agosto de 1970 119
7. A supervisão da Observação Mãe-Bebê – Ensino e investigação 127
Marisa Pelella Mélega
Parte III
Aplicações do modelo de observação em contextos não clínicos
8. Observador Psicanalítico como Modelo Continente da Função Materna 151
Marisa Pelella Mélega com a colaboração de Deborah S. Ribeiro
9. O observador psicanalítico vai à instituição: uma experiência 181
Ana Rosa Pernambuco, Maria da Graça Palmigiani
10. O psicanalista trabalhando em contextos não clínicos: aplicações da psicanálise 195
Marisa Pelella Mélega
11. O observador psicanalítico na pré-escola 209
Mariza W. Nadolny
12. O observador psicanalítico no atendimento pediátrico 227
Marisa Pelella Mélega com a colaboração de Maria da Graça Palmigiani
13. O observador psicanalítico como modelo continente na família 243
Maria da Graça Palmigiani
14. Intervenção mãe-bebê domiciliar – Caso José 249
Agnes Poppi, Maria da Graça Palmigiani
15. Um trabalho domiciliar de observador psicanalítico como modelo continente com idoso 257
Janir Rocha
16. Profissional de saúde diante do sofrimento: acolhe ou nega? 263
Maria Beatriz Zambon Montans
17. O trabalho em instituições de saúde mental 273
Oswaldo Dante Milton Di Loreto (in memoriam)
18. Estudando a relação médico-paciente: pesquisa qualitativa e técnica de Observação Mãe-Bebê – Esther Bick 287
Alceu Casseb
Parte IV
Aplicações do modelo de observação em contextos clínicos
19. Fundamentos e metodologia da intervenção terapêutica conjunta pais-filhos
Marisa Pelella Mélega com a colaboração de Márcia Gimenes
20. Intervenção precoce – Instrumento para enfrentar as várias formas de violência no ambiente do recém-nascido
Daisy Maia Bracco
21. A avaliação Psicodiagnóstica inspirada na Metodologia de Observação Esther Bick
Agnes Poppi
22. Fundamentos teórico-metodológicos das intervenções conjuntas pais-crianças
João Luiz Leitão Paravidini
23. Margareth e Isabel: uma experiência de atendimento em terapia do vínculo
Ana Rosa Pernambuco
24. Prevenção e ajuda na primeira infância
Maria da Graça Palmigiani
25. Observação de bebês e seus desenvolvimentos: repercussões na clínica dos transtornos autísticos infantis
Mariângela Pinheiro
26. Uma aplicação do modelo de Observação Esther Bick com finalidade terapêutica
Roseli C. Marques Costa
299
315
323
329
341
349
357
367
27. Desmame em gêmeos 373
Elizabeth Tavares
28. Da observação à intervenção: o bebê bumerangue 379
Maysa Prado Dias Ayres
29. Laís e Edna: uma experiência de atendimento em terapia do vínculo 393
Ana Rosa Pernambuco
30. Consultas terapêuticas pais-filhos 399
Marisa Pelella Mélega com a participação de Edilaine Zamberlan Serra
Parte V
Investigação psicanalítica
31. Pesquisa da atividade simbólica com ênfase no estudo do brincar –Método de Observação Esther Bick 411
Marisa Pelella Mélega
32. Investigação psicanalítica – Construção do objeto: distinção e contágio 427
Fábio Herrmann (in memoriam)
33. Rêverie materno e o desenvolvimento da atividade simbólica do bebê de 0 a 18 meses 439
Marisa Pelella Mélega, Maria Cecilia Sonzogno
34. Pesquisa em psicanálise: a metodologia qualitativa na pesquisa 459
Maria Cecilia Sonzogno
35. Redimensionando o papel da rêverie na estrutura psíquica: conjecturas a partir de experiências clínicas e de pesquisa 463
Marisa Pelella Mélega
Parte VI
Atividades do Centro de Estudos Psicanalíticos Mãe-Bebê-Família
36. Cursos oferecidos pelo Centro de Estudos Psicanalíticos
Mãe-Bebê-Família em São Paulo 477
37. Atividades científicas do Centro de Estudos Psicanalíticos
Mãe-Bebê-Família 485
38. Extensão das atividades do Centro de Estudos no Paraná 489
39. Evento Tavistock – Martha Harris em São Paulo 1988 497
Parte VII
Conferências Evento Tavistock – Martha Harris por ocasião da inauguração do Centro Estudos Psicanalíticos Mãe-Bebê-Família
40. Observação de Bebês: sua influência na formação de terapeutas e profissionais que trabalham com educação e saúde mental 501
Gianna Polacco Williams
41. O mundo interno da criança 521
Gianna Polacco Williams
42. Quando o paciente é a família 533
Gianna Polacco Williams
43. Dor psíquica e dano psíquico 551
Gianna Polacco Williams
44. Dificuldades no pensar e no aprender 567
Gianna Polacco Williams
45. Adolescência: grupo e gangue 577
Gianna Polacco Williams
46. Adolescência e violência 595
Arthur Hyatt Williams
47. A psicanálise da mente homicida – 20 anos de experiência
Arthur Hyatt Williams
48. Psicanálise da mente homicida – 20 anos de experiência: comentários
Virginia Leone Bicudo
Parte VIII
Conferências Comemorativas dos 75 anos da Tavistock Clinic: no Centro de Estudos Psicanalíticos Mãe-Bebê-Família – São Paulo
49. Programa das Conferências
50. Compreensão psicanalítica dos transtornos alimentares na adolescência
Gianna Polacco Williams
51. Estados do corpo, estados da mente
Gianna Polacco Williams
1. Metodologia da Observação da Relação
Mãe-Bebê na Família1
Marisa Pelella Mélega
Ao se dispor à observação, o candidato recebe algumas “instruções técnicas”, que têm por objetivo criar condições favoráveis para conduzir sua observação inspirada no método psicanalítico. Ele irá ter um contato prévio com a mãe que aceitar ser observada, explicando-lhe que fará uma visita semanal, durante dois anos, em horário a ser combinado, permanecendo uma hora junto a ela e seu bebê. Se possível nas situações de alimentação ou banho. Esclarece que o objetivo desta observação é conhecer de perto a interação mãe-bebê.
Sugere-se ao observador que não entreviste os membros da família, que se sinta livre para satisfazer curiosidades quanto à sua pessoa, suas credenciais, e que estabeleça com a mãe uma relação de aliança com o trabalho que está iniciando, podendo mostrar-se amigável e grato, explicando também que não terá outras atribuições (aconselhar, orientar etc.) a não ser observar.
Espera-se então que o observador vá se colocando na família na medida exata que lhe permita participar da situação emocional, sem sentir-se obrigado a atender expectativas familiares. Ele não se afirma com sua personalidade como membro da família, mas permite que o introduzam a seu modo no contexto familiar, sem, porém, sentir que perdeu sua individualidade.
1 O trabalho aqui apresentado é uma compilação do artigo “Observação da Relação Mãe-Bebê –Instrumento de Ensino em Psicanálise”, publicado na Revista Brasileira de Psicanálise, 21, 309, 1987.
2. A prática da Observação da
Relação
Mãe-Bebê e sua contribuição à formação analítica1
Marisa Pelella Mélega
Com a colaboração de Beatriz Tupinambá
Introdução
Observar a relação mãe-bebê segundo a técnica de Esther Bick proporciona uma experiência na qual o observador aprende a perceber as peculiaridades e modificações de uma relação em estado nascente. Nesta, a atitude do observador é do tipo psicanalítico. Os fenômenos emocionais que na situação psicanalítica são trabalhados por meio da relação transferencial, aqui são utilizados pelo observador no sentido cognitivo, examinando-se a relação do observador com ele mesmo, com o bebê e com a mãe. O observador analítico permanece no campo de experiência no qual o processo de conhecimento se realiza mediante a mesma identificação emocional e participação íntima que ocorre na relação mãe-bebê.
Observar condutas e inferir estados de mente é possível usando o método de observação vindo da psicanálise (observar a relação mãe-bebê na família é possível usando a técnica de Esther Bick inspirada na observação psicanalítica). Nem sempre chegamos a compreender as condutas que observamos e descrevemos. Muitas vezes elas nem são descritas pelo observador, por não terem sentido para ele. No entanto, um observador pode ter a oportunidade de vir a aclarar o que não compreende, pois é beneficiado pelo seguimento longitudinal da relação mãe-bebê. Considera-se uma qualidade a ser desenvolvida
1 Publicado em: Publicações Científicas do Centro de Estudos Psicanalíticos Mãe-Bebê-Família, 4, 1994; e em O Olhar e a Escuta para compreender a Primeira Infância, 2008
3. A especificidade do método de observação de bebês
Daisy Maia Bracco
Existem diferentes métodos de observação utilizados por pesquisadores interessados em desenvolver conhecimentos a respeito da gigantesca tarefa empreendida por mães e bebês a partir do nascimento com o intuito de criar condições para emergir a identidade desse novo ser.
Muitas perguntas ocorrem e muitas delas continuam sem respostas. Quando se inicia no vínculo mãe-bebê um contato que corresponda a uma interação de um “eu” com um “outro”? O que será que esse bebê sente? Seria uma resposta essa alteração fisionômica, ou apenas um reflexo neuromuscular?
A partir de um período posterior no desenvolvimento, fica mais fácil ao observador acompanhar nuances fisionômicas, reações motoras, vocalizações etc. na busca de correlações com os dados de que dispõe, para fazer inferências sobre o mundo subjetivo desse ser que ainda dispõe de tão precários recursos de comunicação.
Mesmo assim, muitos dados relativos a estímulos internos e fantasias ficarão inacessíveis à observação externa.
Os pesquisadores não têm desanimado diante das dificuldades que a experiência impõe, e, para isso, basta notarmos o extenso número de trabalhos científicos que têm sido publicados referentes a esse assunto. Esses trabalhos vêm ajudando na confirmação de muitas proposições teóricas que os pioneiros da teoria psicanalítica nos legaram. Algumas delas impossíveis de serem
4. Um bebê se desenvolve: reações a situações de frustração1
Isaias Kirchbaum (in memoriam)
O fracasso para poder viver a própria vida, por si mesmo e com outros, revela catástrofes que surgem nos estágios iniciais da vida. Junto com a não evolução ocorre o não desenvolvimento da capacidade mental necessária para processar as experiências emocionais, em particular aquelas que implicam dor mental.
O bebê desde o início é submetido a um bombardeamento de estímulos que parecem levá-lo prudentemente a um sono protetor. Gradualmente, na medida em que desenvolve sua capacidade para processar os estímulos, isso permite que fique mais tempo acordado.
Podemos considerar, a partir dessa conjectura, uma desproporção entre o impacto promovido pelas impressões sensoriais e experiências emocionais e o “aparelho” responsável por processá-las. Diante dessa situação – diante do impacto – o bebê pode decidir por enfrentá-la ou evadir-se. Como o adulto, ele pode recorrer a uma terceira alternativa: buscar ajuda. O fracasso – consequência da desproporção – leva à organização de estruturas com finalidades de sobrevivência.
Procuro neste relato descrever algumas situações enfrentadas pelo bebê, que, neste caso, lhe permitiram, pelo processamento das experiências, um
1 Publicado em Tendências-Coletânea de Artigos do 1o Simpósio de Observação da Relação Mãe-Bebês, São Paulo, Unimarco Editora, 1997.
5. Considerações sobre o papel materno na sociedade atual1
Isabel Menzies Lyth
Este texto focaliza a relação da sociedade com a morte e examina como isso afeta o papel e as funções da mãe, principalmente ao cuidar do bebê e da criança pequena.
A relação da sociedade com a morte
A agonia e a desilusão de Freud, sobrevindas à Primeira Guerra Mundial, levaram-no a comentários perspicazes em “Reflexões para os tempos de guerra e morte” (Freud, 1915/1957) – perspicazes e, infelizmente, também proféticos em relação ao futuro. Nesse texto, a autora faz observações sobre as nossas defesas ao percebermos a inevitabilidade da nossa própria morte e das pessoas que nos são próximas, dizendo que essa atitude defensiva em relação à morte “tem um efeito poderoso em nossas vidas. A vida empobrece, perdemos o interesse por ela, quando a maior aposta no jogo da vida, a vida em si mesma, não pode ser arriscada”. O artigo volta muitas vezes a esse ponto: uma relação inadequada com a morte diminui a qualidade da vida.
1 “Thoughts of the maternal role in contemporary society”, in Containing anxiety in institutions-Selected essays (Cap. 6, pp. 208-221), Free Association Bookr, 1988 (trabalho original publicado em 1975). Tradução e publicação em: Publicações Científicas do Centro de Estudos (CEPSI), III, 1992, revisão técnica por Daisy Maia Bracco. Republicação autorizada pela autora.
6. Seminário de Observação de Bebês realizado com a sra. Esther Bick na Associação Psicanalítica Uruguaia em agosto
de 19701
Apresentação da investigação de bebês a cargo da equipe da dra. Raquel Soifer, profa. Raquel Kielmanowicz de Visca e dra. Rosalinda Gusberti.
A título de mostrar um pouco da supervisão de Esther Bick, escolhemos o relato de número 3, de um bebê chamado Andréa.
Observação n. 3 – Bebê: 21 dias (31 de maio de 1969)
A irmã da mãe me atende, entro na cozinha, o pai parece que não está. Não aparece em toda a observação. Andréa está acordada, chupando a chupeta. A mãe prepara a água do banho, e colocam Andréa sobre a mesa, para tirar suas roupas. Está bastante mais crescida e robusta. Chupa calmamente a chupeta e olha ao seu redor. A mãe diz: está com fome, pobrezinha! A tia deixa-a sem roupa, Andréa se estica e começa a dar sinais de inquietação, começando a chorar. A tia coloca a chupeta, mas esta cai de sua boca, pelos movimentos de rotação da cabeça, junto com o choro. A mãe deixa a chupeta de lado, comentando que esta já não lhe serve mais, pois tem muita fome. Andréa chora cada vez mais forte, agora, o som é: “leeeeeee”. Em um certo momento agarra a sua orelha com a mão esquerda, ficando totalmente dentro da sua mão, mantendo-se assim, apertando o punho. A tia carinhosamente tira-lhe a
1 Gentilmente cedido pela equipe. Traduzido por Maria da Graça Palmigiani e revisto por Marisa Pelella Mélega.
7. A supervisão da Observação
Mãe-Bebê – Ensino e investigação1
Marisa Pelella Mélega
Introdução
Ao observar condutas é possível inferir estados de mente se usarmos o método de observação vindo da psicanálise. É o que o psicanalista faz diariamente em seu consultório. Ele tem na interpretação e na resposta do analisando um instrumento de avaliação. Já a observação psicanalítica em contextos não clínicos não pode se valer da interpretação para avaliar o sentido apreendido. Esther Bick, para estudar a relação mãe-bebê, inspirou-se no método de observação psicanalítica (descrição da conduta nos mínimos detalhes, considerando o contexto em que o fenômeno ocorre e levando em conta o aspecto processual do fenômeno, que M. Klein e S. Isaacs denominaram de continuidade genética) e criou uma técnica para observar a relação mãe-bebê na família.
Nem sempre chegamos a compreender as condutas que observamos e descrevemos. Muitas vezes condutas observadas nem são descritas pelo observador por não terem sentido para ele. No entanto, um observador da relação mãe-bebê pode ter a oportunidade de vir a aclarar o que não compreende, pois é beneficiado pelo seguimento longitudinal (visita semanal por um ano). Considera-se uma qualidade a ser desenvolvida pelo observador a capacidade
1 Este texto é uma versão mais curta do trabalho apresentado em 29 de abril de 1993 na Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo sob o título “Observações psicanalíticas”.
8. Observador Psicanalítico como Modelo
Continente da Função Materna1
Marisa Pelella Mélega
Com a colaboração de Deborah S. Ribeiro
Introdução
O presente trabalho visa comunicar um experimento que denominamos “Observador Psicanalítico como Modelo Continente da Função Materna”. Trata-se de uma aplicação do método de observação Esther Bick para intervir nas relações iniciais mãe-criança, visando psicoprofilaxia. Para estudar a possibilidade dessa aplicação, reuni em um grupo alguns observadores psicanalíticos –qualificados pelo Curso de Estudos Observacionais e Aplicação de Conceitos Psicanalíticos ao Trabalho com Crianças, Adolescentes e Famílias do Centro de Estudos Psicanalíticos Mãe-Bebê-Família – interessados na possibilidade de aplicar os ensinamentos vindos da experiência de observação no trabalho do experimento mencionado
O experimento foi feito em duas creches, um hospital infantil, alguns atendimentos pediátricos e algumas famílias.
A primeira experiência ocupou-se do caso que iremos descrever adiante. A supervisão do material feita com os integrantes do referido grupo levou-nos a refletir sobre a técnica, o alcance e as limitações deste trabalho que pretende atender a dupla mãe-bebê. Entendemos, ainda, que sua aplicação poderia se
1 Publicado em Anais da Tavistock Tavistock-Model Courses, Nápoles, 1992; e em Revista Arquivos de Psiquiatria, Psicoterapia e Psicanálise, Fundação Mario Martins, 2(2), 63-80, 1995.
9. O observador psicanalítico vai à instituição: uma experiência
Ana Rosa Pernambuco
Maria da Graça Palmigiani
Introdução
Este artigo tem por objetivo relatar a experiência realizada nos berçários de uma creche ocorrida no período de setembro a dezembro de 1989.
Baseados em nossa experiência de trabalho com atendimento de pessoas, bem como no estudo de Observação de Bebês e Crianças, temos conhecimento da importância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento da personalidade do indivíduo, e também a noção de que cuidados adequados por parte de quem lida com crianças podem possibilitar o desenvolvimento de recursos e condições para enfrentar a vida.
Cientes de que muitas instituições carecem de condições favoráveis de trabalho nessa área, direcionamos nosso interesse a experiências profiláticas. O reconhecimento da formação insuficiente dos profissionais que cuidam de crianças reforça nossa escolha, tanto nos aspectos emocionais do desenvolvimento infantil quanto nos diversos processos peculiares às diferentes fases do desenvolvimento.
Por meio de nosso trabalho percebemos que, no relacionamento adulto-criança, há um envolvimento no qual a simples informação não modifica a compreensão. Mais importante do que aconselhar ou informar é estarmos numa atitude receptiva e reflexiva, isto é, na atitude de mente de acolher o
10. O psicanalista trabalhando em contextos não clínicos: aplicações da psicanálise
Marisa Pelella Mélega
Introdução
Vou me ater, nesse artigo, a considerar algumas aplicações da psicanálise em contextos clínicos e não clínicos, aplicações vindas do modelo de Observação da Relação Mãe-Bebê (método Esther Bick).
Esther Bick, psicanalista da Sociedade Psicanalítica Britânica, em 1948, passou a usar, com alunos do Curso de Psicoterapia da Infância da Tavistock, o método de Observação de Bebês, com o intuito de “ensinar” a primeira habilidade que um psicanalista ou psicoterapeuta necessitam antes de fazer interpretações, antes de aprender a teoria, e que consiste em “ser capaz de estar com o paciente, escutá-lo, vê-lo”.
Bick, partindo de um método de observação direta de bebês que era comparável ao dos trabalhos experimentais de Middlemore e Stern, estabeleceu um enquadre em que o observador e a família não se conhecem, definindo o papel do observador através de atitudes desejáveis: aprender a tolerar a maneira com a qual mães cuidam de seus filhos e como elas podem encontrar suas próprias soluções, coletando dados livres de sua própria interpretação e tentando se livrar de ideias preconcebidas. O observador precisa colocar-se de tal maneira a não haver grandes perturbações no meio familiar pela sua presença e, ao mesmo tempo, permanecer no campo emocional da família e, particularmente, da relação mãe-bebê, sem, porém, se sentir obrigado a desempenhar papéis
11. O observador psicanalítico na pré-escola
Mariza W. Nadolny
Introdução
No decorrer da minha formação no Curso de Estudos Observacionais e Aplicação dos Conceitos Psicanalíticos ao Trabalho com Crianças e Adolescentes do Centro de Estudos Psicanalíticos Mãe-Bebê-Família, recebi como sugestão de minha supervisora, dra. Marisa Pelella Mélega, realizar a observação da criança pequena numa pré-escola, e não na família, como era usual.
Dei início ao trabalho, tendo como objetivo principal observar uma criança entre 2 e 3 anos no contexto pré-escolar. No entanto, no transcorrer da experiência, decidi por fazer observações em duas pré-escolas que adotavam métodos distintos. Numa delas, foquei a observação em duas crianças particularmente.
Na primeira pré-escola, que chamarei de Escola Ativa, observei duas crianças, num grupo de dezoito, com idade média de 2 anos e meio. Fiz quinze visitas semanais de uma hora cada. Havia uma professora titular e uma auxiliar. Na segunda pré-escola, que nomearei de Escola dos Cantos, observei um grupo de 24 crianças entre 2 e 3 anos. Havia duas professoras. Fiz sete visitas semanais de uma hora cada.
Iniciarei o relato abordando a primeira escola e o material de observação das duas crianças.
12. O observador psicanalítico no atendimento pediátrico
Marisa Pelella Mélega
Com a colaboração de Maria da Graça Palmigiani
Introdução
O propósito desta comunicação é demonstrar a utilidade de realizarem observações com o paciente pediátrico durante a consulta e mesmo no âmbito familiar. Tais observações podem trazer à luz fatores emocionais implicados na patologia pediátrica.
No caso que vamos usar como exemplo foram realizadas duas observações: uma observação da mãe e da criança durante uma consulta pediátrica, e outra numa visita familiar especialmente destinada a esse fim. O observador psicanalítico do caso foi Maria da Graça Palmigiani. Tais observações foram supervisionadas por Marisa Pelella Mélega durante seminários realizados no Centro de Estudos Psicanalíticos Mãe-Bebê-Família que atendem a uma pesquisa em andamento no Setor de Psiquiatria Social do Departamento de Psiquiatria e Psicologia Médica da Escola Paulista de Medicina.
A consulta pediátrica aconteceu no Ambulatório de Pediatria do Hospital São Paulo. Uma mãe levou sua filha de 13 meses com a queixa de tosse e “catarro no peito”. A pesagem preliminar realizada pela enfermagem e sua relação com a idade (7.5 kg) colocou a criança na categoria de desnutrida de segundo grau.
Ao chegar ao ambulatório médico, a mãe foi informada pela pediatra da existência de um grupo de estudo com crianças de baixo peso, do qual, caso ela
13. O observador psicanalítico como modelo continente na família1
Maria da Graça Palmigiani
Introdução
O observador psicanalítico como modelo continente na família é uma função que vem sendo desenvolvida por um grupo de psicoterapeutas, no Centro de Estudos das Relações Mãe-Bebê-Família, sob a supervisão da dra. Marisa Pelella Mélega, e que fizeram sua formação no Curso de Estudos Observacionais desse Centro de Estudos.
A verificação de que algumas mães se beneficiavam apenas com a visita do observador psicanalítico foi o que motivou esse grupo a aplicar a metodologia da observação da relação mãe-bebê em contextos não clínicos: na família, em creches, hospitais, centros de saúde etc. A intenção era caracterizar o profissional da área da saúde com formação na metodologia da observação de bebês que utilizasse de observação num primeiro momento dessa observação, como aprimoramento do objeto de estudo a ser conhecido, com atitudes mentais necessárias para a observação, como: ser receptivo, escutar, não fazer julgamentos, conter as próprias emoções, colocar-se na posição de quem não sabe e precisa observar e pensar para conhecer. Esse profissional faria intervenções nada semelhantes a interpretações analíticas, com o objetivo
1 Artigo apresentado no XII Congresso da Abenepi, em São Paulo, em março de 1993.
14. Intervenção mãe-bebê
domiciliar – Caso José1
Agnes Poppi
Maria da Graça Palmigiani
Vou expor resumidamente a aplicação do modelo de Observação Esther Bick para avaliação e reflexão do caso de uma mãe de 38 anos, Ana, que deseja amamentar seu filho de 4 meses, André, e tem sido orientada pelo psiquiatra para que suspenda a amamentação em favor de retomar os comprimidos antidepressivos e calmantes que foram suspensos durante a gravidez. Como a mãe se opõe a essa orientação, o psiquiatra solicitou uma avaliação psicológica, pois quer se isentar da responsabilidade caso ela opte pela amamentação.
Primeiramente vou fazer um relato do primeiro encontro com a mãe, respeitando a sequência em que os assuntos foram emergindo. Aqui quero abrir um parêntese antes de continuar e ressaltar que, embora eu tivesse solicitado a presença da família, acolhi a opção da mãe em vir só nesse primeiro encontro. A mãe me contou que há cerca de dois anos passou a desenvolver alguns sintomas como tontura, falta de equilíbrio e pressão alta. Inicialmente foi diagnosticada labirintite e posteriormente foi encaminhada para um neurologista, que, depois de realizar uma série de exames, recomendou que ela procurasse um psiquiatra. A essa altura já havia desenvolvido mais sintomas: medo de usar elevador, medo de sair de casa, medo de que as filhas fossem para a escola (tem duas filhas do primeiro casamento, uma
1 Trabalho desenvolvido na Clínica Psicológica do Centro de Estudos Psicanalíticos Mãe-Bebê-Família de São Paulo e apresentado no 5o Colóquio Internacional de Observação Psicanalítica da Relação Mãe-Bebê, Rio de Janeiro, 2000.
15. Um trabalho domiciliar de observador psicanalítico como modelo continente com idoso
Janir Rocha
Por meio de uma indicação feita por uma colega, a filha de dona Mara (nome fictício) procurou-me e pediu que eu atendesse sua mãe de 79 anos, que estava deprimida e medicada para tal, mas não apresentava melhoras. Segundo a filha, a depressão estava prejudicando o tratamento – dona Mara fora submetida a uma cirurgia de coluna havia três meses e “podia” andar, porém não andava.
Percebi a filha aflita e com pressa pela recuperação total da mãe, pois era dezembro e logo viria o Natal, época em que os filhos a queriam restabelecida. A recuperação de dona Mara tinha data preestabelecida – aspecto que me chamou atenção na conversa com a filha. Consequentemente, isso indicava que as filhas não podiam considerá-la como uma pessoa que tem suas angústias, necessidades, tristezas etc. Viam-na como alguém que precisava continuar atendendo-os.
Pensei na relação mãe-bebê, na qual a mãe deve servir e estar disponível para atender às necessidades dos filhos, transformando situações insuportáveis em situações pensáveis e suportáveis. O fato de não estar andando parecia ser a situação insuportável que ela deveria transformar em um tempo pré-determinado. A ela não era dado o direito de estar debilitada emocionalmente. Deveria ser forte como sempre. Seu mundo mental não estava sendo levado em consideração.
16. Profissional de saúde diante do sofrimento: acolhe ou nega?
Maria Beatriz Zambon Montans
O profissional de saúde diante do sofrimento: acolhe ou nega? Parece uma pergunta com resposta óbvia, principalmente quando se está num ambiente de hospital geral. Certamente a primeira resposta é a de que acolhe. É evidente que, diante de um sofrimento físico, todos os cuidados e procedimentos necessários são providenciados da melhor forma possível. Mas e o sofrimento mental? Como fica? É acolhido?
Até algum tempo atrás, era mais comum que esse raciocínio acontecesse naturalmente, uma vez que o doente era tratado na própria casa, junto com seus familiares, mesmo quando vinha a falecer. Era acolhido por inteiro, física e emocionalmente, inclusive junto à família.
Com o advento da tecnologia e as inúmeras especializações da ciência, tivemos, junto com os benefícios que certamente usufruímos, uma mudança no trato com o ser humano, que passa a ser visto e tratado não mais como uma pessoa por inteiro, mas como um órgão doente: um rim, um coração; ou, ainda, como um número de leito.
É evidente que temos que considerar o quanto a situação de contato direto com o sofrimento emocional é difícil também para o profissional de saúde, principalmente considerando-se o volume de atendimentos que realiza diariamente.
No entanto, essa situação muitas vezes acaba levando o profissional a negar esse sofrimento, não só para si, mas principalmente para o paciente. Como?
17. O trabalho em instituições
de saúde mental
Oswaldo Dante Milton Di Loreto (in memoriam)
Apresentação de Marisa Pelella Mélega
Oswaldo Dante Milton Di Loreto é médico psiquiatra especializado em psiquiatria infantil na França. Praticou a clínica psiquiatra infantil por muitos anos e desde 1968 se dedica ao estudo das organizações sociais nas instituições, a assim chamada psiquiatria social. Tem um vastíssimo currículo de trabalho e ensino nesta área, mas nunca se preocupou em registrar por escrito suas experiências. Sem dúvida, é um autor nacional da psiquiatria social que só não pode ser lido porque ainda “não se escreveu”.
Conheci Di Loreto no Hospital do Servidor em 1967, ano em que eu iniciava meu trabalho como psiquiatra. Um ano de psiquiatria infantil naquele hospital foi o suficiente para mostrar que era impraticável ajudar crianças (e suas famílias) encaminhando-as para um “hospital-depósito”, de doentes mentais. A psiquiatria dinâmica, o hospital aberto, o hospital-dia, a abordagem terapêutica dos aspectos sadios (e não somente dos aspectos doentes) apenas despontavam no mundo da psiquiatria. No Brasil esta visão dinâmica manifestava-se principalmente em Porto Alegre, no Hospital Psiquiátrico Pinel para adultos e na Instituição Leo Kanner para crianças. O contato e a troca de ideias com essas instituições do Sul serviram de estímulo para iniciarmos nossa experiência em São Paulo. Fundamos, então, a Comunidade Terapêutica
18. Estudando a relação médico-paciente:
pesquisa qualitativa e técnica de Observação
Alceu Casseb
Mãe-Bebê – Esther Bick1
A estrada está deserta Alguma sombra escassa. Buscando o pássaro perdido Morro acima, serra abaixo. Ninho vazio de pedras.
Eu avante na busca fatigante de um mundo impreciso, todo meu, feito de sonho incorpóreo e terra crua.
“Errados rumos”, Cora Coralina (2021)
Trata-se de uma tese de doutorado aprovada em 1994 na Universidade Estadual de Campinas (Casseb, 1994). Estando em contato com a Psicanálise desde 1980, e tendo passado pelo Centro de Estudos das Relações Mãe-Bebê na família, um centro ligado a Tavistock de Londres, com sede em São Paulo, procurei aplicar o método psicanalítico e o arcabouço técnico oferecido por Esther
1 Agradeço ao Centro de Estudos Psicanalíticos Mãe-Bebê-Família pela experiência que pude ter durante o Curso de Observação.
19. Fundamentos e metodologia da intervenção terapêutica conjunta pais-filhos1
Marisa Pelella Mélega
Com a colaboração de Márcia Gimenes
Este trabalho foi inspirado no modelo de Observação da Relação Mãe-Bebê, criado por Esther Bick em 1948, modelo este que tem sua origem na observação psicanalítica tal como é conceituada no método psicanalítico. Propomos aqui uma aplicação desse modelo.
Ao falarmos em “Aplicação do Modelo de Observação E. Bick” estamos nos referindo ao trabalho clínico que privilegia um conjunto de atitudes de mente necessárias para a observação: ser receptivo, “estar” no clima emocional do objeto da observação, lidar com as próprias emoções despertadas pela função de observar e não intervir ativamente no objeto de observação.
Evidentemente, ao aplicar o modelo de Observação E. Bick ao contexto clínico, estou introduzindo uma variável que possa me transportar da função de apenas observar para a de “promover ativamente comunicação e pensamento” entre os membros da família. E é essa aplicação que denominei “Intervenções Terapêuticas Conjuntas Pais-Filhos”. É evidente ao leitor que considero terapêutico promover comunicação e pensamento entre os membros do grupo familiar.
Sigo agora mencionando alguns fundamentos teóricos e técnicos que penso terem sido a base para o trabalho de Intervenções Terapêuticas Conjuntas Pais-Filhos.
O primeiro deles vem das contribuições de Bion ao trabalho com grupos. Bion (1961), solicitado a ajudar grupos de tarefa que apresentavam tensões
1 Publicado em Alter – Jornal de Estudos Psicodinâmico, Brasília, 1998
20. Intervenção precoce – Instrumento para
enfrentar as várias formas de violência no ambiente do recém-nascido1
Daisy Maia Bracco
Convivemos no dia a dia com situações violentas que causam medo e dor, ameaçando nossa integridade física e emocional. Sabemos que a violência não é um fenômeno restrito a um grupo social ou a um determinado período, pois estamos focalizando um fenômeno global e que historicamente faz parte da humanidade.
Segundo M. Chaui (1996), a definição de violência varia de acordo com as várias culturas e sociedades, dando-lhe conteúdos diferentes segundo os tempos e os lugares. Entretanto, certos aspectos da violência são percebidos da mesma maneira, formando um fundo comum contra o qual os valores éticos se erguem. A violência é percebida como o exercício de força física e de coação psíquica para obrigar o ser a ir de encontro aos seus desejos e interesses, contrária ao seu corpo e sua consciência, causando-lhe danos profundos e irreparáveis, como a morte, a loucura, a autoagressão ou agressão aos outros. Ao abordarmos esse tema, não pretendemos pensar a violência como algo a ser extirpado da vida dos indivíduos ou das sociedades. Luís Claudio Figueiredo (1998) afirma que, como analistas e pensadores da cultura, faz-se necessário refletirmos como canalizar essa condição estrutural e constitutiva
1 Texto fundamentado no trabalho apresentado no “V Colóquio Internacional de Observação Psicanalítica da Relação Mãe-Bebê” – Rio de Janeiro, 2000.
21. A avaliação Psicodiagnóstica inspirada na Metodologia de Observação Esther Bick
Agnes Poppi
Pretendo demonstrar por meio de material clínico a possibilidade de utilizar reflexões sobre dados colhidos durante a observação para avaliação Psicodiagnóstica. Um estudo de caso clássico na esfera da psicologia com entrevistas iniciais, hora lúdica, baterias de testes e entrevistas devolutivas salienta o conhecimento de dados da dinâmica psíquica e considera dados de história relatados. Já um estudo de caso baseado na técnica de observação Esther Bick enfatiza a interação pais-filhos, a não intervenção na dinâmica observada e constrói sua própria história.
No Centro de Estudos Psicanalíticos Mãe-Bebê-Família de São Paulo é desenvolvido um atendimento clínico denominado Intervenções Terapêuticas Conjuntas Pais-Filhos. Os primeiros encontros são destinados a uma visão diagnóstica da situação familiar e/ou do suposto paciente. É um trabalho clínico inspirado no Método de Observação Esther Bick em que se desenvolvem atitudes mentais necessárias para a observação: a receptividade, o escutar, o não julgar, o conter as próprias emoções sem atuar, o colocar-se numa posição de quem não sabe e precisa observar e pensar para vir a saber.
Passarei a exemplificar então, por meio do caso de uma menina de 3 anos, como se realiza essa forma de avaliação.
Penso que o trabalho começou no primeiro contato telefônico que mantive com a mãe. Ela me telefonou para marcar uma consulta para sua filha, Ana, de
22. Fundamentos teórico-metodológicos das intervenções conjuntas pais-crianças
João Luiz Leitão Paravidini
Uma das mais prementes formulações teórico-clínicas que vicejam no campo da saúde mental infantil diz respeito à seguinte condição: se a criança, em seus primeiros anos de vida, puder ser aliviada do peso de suas primeiras formações sintomáticas, antes da fixação ou do deslocamento delas, tal criança estaria em melhores condições para enfrentar sua vida posterior.
Essa proposição adquire maior densidade quando temos em mente certas condições significativamente incapacitantes inerentes ao adoecer autístico. Situação em que pesquisar e atuar, num nível de maior precocidade diagnóstica e, especialmente, terapêutica, aponta-nos a possibilidade de intervir não só no plano terciário do adoecer psíquico (o tempo do acontecido), mas, sobretudo, em seu plano preventivo secundário (o tempo do acontecer). Nesse sentido é que buscamos “intervir para que se instaurem as estruturas mesmas que dão suporte ao funcionamento dos processos de pensamento inconsciente” (Laznik-Penot, 1997, p. 47) que, mediante a sua completa ausência, nos faz presenciar toda uma vasta sorte de déficit e sintomas clínicos manifestos pela criança autista.
Se essa proposição “preventiva” pode, à primeira vista, nos encher os olhos devido à sua clareza, logo adiante nos deparamos com águas bastantes turbulentas quando nos colocamos algumas questões, como: seria esta uma proposição mirática ou intuitiva, acrescida de um certo tom de consolo
23. Margareth e Isabel: uma experiência de atendimento em terapia do vínculo
Ana Rosa Pernambuco
Introdução
A intenção deste trabalho é comunicar uma experiência de atendimento mãe-criança, realizada em consultório, em 1995. Fui procurada por Margareth, que estava muito aflita em relação a sua filha, Isabel, de 1 e 5 meses. Segundo a mãe, “de um dia para o outro” Isabel parou de falar, não mordia mais a comida, não segurava mais nenhum objeto, mostrara desinteresse pela mãe e pelo pai. A mãe associa o aparecimento desse comportamento de Isabel com um momento de muita angústia vivenciada por ela ao decidir-se por aborto de uma nova gestação.
Primeiros contatos
Relatarei fragmentos das primeiras observações.
1a observação
Quando encontro as duas na sala de espera, a primeira coisa que me chama atenção é a impressão de que Isabel parece cega, está andando sem “rumo”, sem fixar nenhuma direção.
24. Prevenção e ajuda na primeira infância1
Maria da Graça Palmigiani
Introdução
Minha intenção ao escrever este artigo é relatar experiências com dois atendimentos em família, decorrentes da aplicação do Método de Observação da Relação Mãe-Bebê, segundo o modelo Esther Bick, em contextos clínicos.
Em 1984, em continuidade à minha formação teórico-clínica como psicoterapeuta, iniciei o Curso de Estudos Observacionais, mais especificamente o módulo “Metodologia da Observação da Relação Mãe-Bebê na Família”, que consiste em observar, durante dois anos, uma mãe e seu bebê, desde o nascimento, realizando visitas semanais à família. Após essas visitas, os observadores, em grupos, frequentaram seminários com a finalidade de supervisão dos materiais colhidos durante elas.
Verificou-se, por essa prática, que muitas mães se sentiam ajudadas pelo observador, beneficiavam-se da presença dele, embora não fizesse parte da sua função ter qualquer papel terapêutico ou orientador. Parecia-nos que a mãe incorporava algumas de suas atitudes de mente.
Em 1987, um grupo de psicólogos que faziam formação no Curso de Estudos Observacionais, do qual faço parte, passou a dedicar-se sistematicamente
1 Trabalho apresentado no XIV Congresso Brasileiro de Neurologia e Psiquiatria Infantil na mesa-redonda “Terapia Mãe-Bebê”, Belo Horizonte, 1997.
25. Observação de bebês e seus desenvolvimentos: repercussões na clínica dos transtornos autísticos infantis1
Mariângela Pinheiro
Introdução
O método Esther Bick de Observação da Relação Mãe-Bebê, tendo sido, por muitos anos, parte fundamental da formação de profissionais no campo terapêutico e psicanalítico, vem iluminando nossa compreensão do desenvolvimento mental, incluindo os estados primitivos de não integração e desintegração. De acordo com Esther Bick, o treino em Observação de Bebês deveria “aumentar o entendimento do aluno acerca da conduta não verbal da criança e de seu brincar, bem como da conduta da criança que não fala nem brinca” (Bick, 1963).
O trabalho com crianças que apresentam transtornos autísticos nos coloca em contato direto com o tema da construção da capacidade de simbolização. Ao mesmo tempo que nos informa sobre impedimentos, lacunas, desarmonias em relação ao desenvolvimento usual dessa capacidade, tal trabalho nos desafia com questões e intrigantes surpresas enquanto nos movimentamos com nossos pacientes por entre os andaimes da construção da possibilidade de simbolizar. Nesse contexto, a função de continência, presente em toda relação analítica, e essencial para o desenvolvimento dos processos de pensamento (Bion, 1962) e da capacidade de simbolização, é tomada em consideração de uma maneira
1 Trabalho apresentado no VI International Congress on Infant Observation According to the Method of Esther Bick (“New discoveries and applications”), centenário de nascimento de Esther Bick, Cracóvia, Polônia, 2002.
26. Uma aplicação do modelo de Observação Esther Bick com finalidade terapêutica1
Roseli C. Marques Costa
O material clínico que apresento a seguir mostra o atendimento a uma família encaminhada por indicação de uma médica pediatra que tratava do segundo filho do casal, um menino de 4 anos, João, portador de uma doença grave no sangue. No primeiro contato telefônico, a mãe parecia bastante aflita, falando sem parar. Contou do seu cansaço. Não dormia, indo seguidas vezes ao quarto do filho, para verificar se ele estava bem. Além disso, o filho estava muito “grudado” a ela e solicitava constantemente sua presença. Ele estava agitado, se recusava a tomar remédio e eram frequentes as brigas com a irmã, uma menina de 9 anos. Ainda nesta conversa queixou-se da pouca ajuda recebida do marido, que se afastava cada vez mais. Um encontro então foi marcado, solicitando-se a presença dos pais e das crianças.
Depois de quatro entrevistas de avaliação, o atendimento se estendeu por aproximadamente três meses.
Tento mostrar neste trabalho como este tipo peculiar de atendimento pôde ajudar esta família a se organizar e se fortalecer para enfrentar as dificuldades vividas com a doença do filho e a eminência da separação do casal, entre outras questões.
1 Trabalho apresentado no 3o Simpósio de Observação Psicanalítica da Relação Mãe-Bebê, Rio de Janeiro, 1998.
27. Desmame em gêmeos
Elizabeth Tavares
O objetivo deste trabalho é apresentar a importância do treino em observação psicanalítica da relação mãe-bebê, como instrumento de avaliação em crianças de pouca idade.
O atendimento psicológico à criança pequena implica não só na compreensão do que se passa em sua mente, como também no ambiente familiar onde vive.
O psicodiagnóstico infantil geralmente acontece a partir de um levantamento da história de vida fornecido pelos pais por meio de entrevista, atendimentos individuais à criança em sessões lúdicas, se necessário, acompanhadas de avaliação projetiva e/ou cognitiva, seguidas de entrevista devolutiva em que os pais são informados de diagnóstico, prognóstico e possível forma de tratamento. Essa estratégia continua sendo bastante utilizada, entretanto muitas vezes fica difícil saber o que se passa na relação entre pais e filhos, que poderia estar contribuindo para o estabelecimento ou manutenção dos sintomas apresentados pelas crianças. O perfil das pessoas que chegam aos consultórios tem mudado, assim é preciso considerar que: o atendimento terapêutico deverá estar adequado ao caso, considerando a dupla, as necessidades, os conflitos, fases do desenvolvimento, estrutura dos pais, características dos bebês. A base da possibilidade de atendimento, entretanto, é a relação pais-terapeuta. A avaliação e diagnóstico são considerados de fundamental importância. “Em casos que apresentam mãe (M) e/ou família muito comprometidas, dificultando o diagnóstico, é
28. Da observação à intervenção: o bebê bumerangue1
Maysa Prado Dias Ayres2
No Curso de Observação da Relação Mãe-Bebê do qual eu participava como observadora de uma dupla M-B, outra dupla nos chamou a atenção, em vista de problemas e sofrimentos pelos quais passava, com riscos para o desenvolvimento do bebê. Sugeriu-se que fosse feita uma abordagem do tipo Intervenção Terapêutica Conjunta Pais-Filhos.
Os problemas com a referida dupla se iniciaram com uma crise do casal, durante o primeiro ano de vida do bebê, quando o pai comunicou seu desejo de separar-se. Ele saiu de casa e passou a fazer visitas esporádicas aos filhos.
Maria Lúcia,3 observadora dessa dupla, indicou a intervenção quando notou um movimento depressivo importante da mãe, que se apegou mais fortemente ao bebê. Este logo mostrou sinais de regressão, involução e perda de habilidades recém-adquiridas, como a fala, a deambulação, a curiosidade, a capacidade de brincar, e uma evidente parada no desenvolvimento da dentição. Também passou a chorar muito e voltou a buscar o colo da mãe com maior frequência.
1 Trabalho apresentado no Encontro Sobre Observação M-B e a Clínica Psicanalítica, em Londrina, outubro de 2000.
2 Observadora nos seminários do Curso de Observação M-B, coordenados por Marisa Pelella Mélega em 1998.
3 Observadora nos seminários do Curso de Observação M-B, coordenados por Marisa Pelella Mélega em 1998.
29. Laís e Edna: uma experiência de atendimento em terapia do vínculo
Ana Rosa Pernambuco
Trata-se de uma menina de 1 ano e 6 meses, a quem chamarei de Laís, que apresentava dificuldades para dormir: tanto para conciliar o sono (precisava estar no colo da mãe ou no berço de mãos dadas) quanto para mantê-lo, pois acordava todas as noites (em média cinco vezes) chorando e chamando aos berros pela mãe.
A criança apresentava esses sintomas desde bebê, e desde o início a babá dividia os cuidados da criança com a mãe, mas, Laís chamava sempre a mãe tanto para conciliar o sono quanto ao acordar durante a noite. Muitas vezes era a babá quem ia tentar acalmá-la, mas demorava muito mais tempo para Laís se tranquilizar.
Na época da amamentação, que durou oito meses, a mãe acreditava que Laís acordava durante a noite porque queria mamar e porque a julgava uma criança agitada.
Com o desmame, disse a mãe, esperava uma melhora dessa situação, e, na verdade, intensificou-se o distúrbio do sono.
O encaminhamento para este trabalho foi feito pelo pediatra e aconteceu de setembro a dezembro de 1995.
A técnica e o procedimento para esses atendimentos vêm sendo estudados e desenvolvidos pelo Centro de Estudos Psicanalíticos Mãe-Bebê-Família há dez anos. O embasamento teórico e os relatos acerca de outras intervenções
30. Consultas terapêuticas pais-filhos
Marisa Pelella Mélega
Com a participação de Edilaine Zamberlan Serra
É uma abordagem que utiliza a observação familiar como instrumento diagnóstico de situações-problema entre os membros de uma família. No encaminhamento de uma criança para avaliação é solicitada a presença de todos os membros da família, com a finalidade de observar suas interações.
Entendemos, após mais de trinta anos de clínica psicanalítica da infância e adolescência, que a avaliação diagnóstica que inclua a observação do grupo familiar nos dá acesso a interações existentes e presentes entre os seus membros, informações essas que complementam as narrativas dos pais, durante as entrevistas diagnósticas, geralmente baseadas em notações parciais ou incompletas.
Acresce-se uma outra vantagem: ao usar essa abordagem, pode-se promover participação e responsabilidade de todos os membros nas situações-problema.
Entendemos que oferecer um enquadre em que terapeuta e a família podem observar e comunicar o que está emergindo durante o encontro é usar o método analítico em toda a sua amplitude. As interações que vão surgindo durante o encontro, expressas em linguagem verbal, pré-verbal, lúdica ou por atuação, são exemplos vivos da história do grupo e do lugar que cada membro ocupa; história e lugar que falam de relações conflitivas que se repetem pela impossibilidade de encontrar soluções pela impossibilidade de pensá-las.
Essa forma de avaliar situações-problema e de sistematizar uma abordagem para continuar trabalhando as interações pais-filhos vem amadurecendo há
31. Pesquisa da atividade simbólica com ênfase no estudo do brincar – Método
de
Observação Esther Bick1
Marisa Pelella Mélega
Como a pesquisa em psicanálise vem sendo realizada
O psicanalista clínico não está motivado para estudar o processo e os conceitos analíticos por meio da pesquisa empírica. Ele tem no método analítico seu instrumento de investigação.
O método analítico consegue criar um contexto que pode ser considerado “tão laboratorial” quanto os contextos criados pela pesquisa empírica.
O estudo do funcionamento da mente humana só se ampliou cientificamente e foi sistematizado quando Freud descobriu o inconsciente e um método próprio para investigá-lo. Até então, a realidade psíquica era comunicada pelos poetas, artistas, músicos, e talvez até hoje sejam eles que têm os mais ricos instrumentos de investigação e comunicação!!
A partir das descobertas de Freud, criou-se uma verdadeira psicologia e uma teoria da personalidade. Freud colocou-se diante de seus pacientes como um observador de fenômenos psíquicos, inclusive os produzidos pela sua presença, descobrindo, assim, a transferência.
Ficou então caracterizado um observador não neutro, mas sim subjetivo, imerso no campo emocional criado pelo par analítico. O analista, ao observar,
1 Publicado em 1997 na Revista Brasileira de Psicanálise, XXXI(3), 745-760.
32. Investigação psicanalítica – Construção do objeto: distinção e contágio1
Fábio Herrmann (in memoriam)
“Pesquisa
empírica”
Nos últimos anos temos assistido à produção de algumas curiosas pesquisas em psicanálise. A clínica psicanalítica é, em si mesma, nossa modalidade mais essencial de pesquisa. O estudo dos fenômenos culturais é pesquisa psicanalítica também – Freud abriu esse espaço e explorou-o magistralmente. Existe pesquisa teórica, conceitual; existe, ou pode existir, pesquisa metodológica em psicanálise. O tipo de investigação que entrou recentemente em moda, contudo, não é nenhuma dessas. Trata-se da pesquisa dita empírica; nome que por si só confunde, porquanto a empiria psicanalítica, a zona de fenômenos concretos que se oferecem a nosso estudo, é antes de mais nada a clínica e, em seguida, o reino das significações culturais e dos sentidos emocionais – para os quais está excelentemente dotado o método psicanalítico de produção de saber.
A pesquisa empírica em psicanálise – a que seria melhor chamar pesquisa controlada – procura imitar o modelo positivista de erradicação de desvios
1 Este pequeno trabalho resultou de uma interessantíssima discussão com Marisa Pelella Mélega, que me trouxe o material de observação da relação mãe-bebê (colhido, sob sua orientação, por outra colega) para um estudo metodológico. Também me utilizo aqui de fragmentos do trabalho “O mito para o psicanalista”, apresentado ao I Simpósio Internacional de Mitos, Cusco, 1989. Publicado no Jornal de Psicanálise, 30(55/56), 7-18, 1997, e em Revista Uruguaya de Psicoanalisis, (84/85), 19-31, 1997, da Associación Psicoanalítica del Uruguay, Montevideu.
33. Rêverie materno e o desenvolvimento da atividade simbólica do bebê de 0 a 18 meses1
Marisa Pelella Mélega
Maria Cecilia Sonzogno
A pesquisa que irei relatar está sendo desenvolvida sob os auspícios do Centro de Estudos Psicanalíticos Mãe-Bebê-Família, em São Paulo, e da International Psychoanalytical Association Research Advisory Board. Contando com a participação da dra. Maria Cecilia Sonzogno. A intenção de pesquisa surgiu das leituras dos relatos de observação, segundo o método Esther Bick (1949/1964), em decorrência de diversos Seminários de Observação da Relação Mãe-Bebê realizados por Mélega. Esta autora tem realizado esses seminários de observação junto ao Centro de Estudos Psicanalíticos Mãe-Bebê-Família e à Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. A Metodologia de Observação Esther Bick implica na observação da relação mãe-bebê na família, durante um período de dois anos, semanalmente. A supervisão semanal, realizada no grupo de observadores (em torno de seis a oito observadores), tem como objetivo principal ouvir e discutir, em rodízio, o relato de um dos membros do grupo, propiciando clareza de linguagem, fidedignidade da observação e a compreensão do que se passou nessa relação mãe-bebê.
A riqueza de detalhes dessas observações nos levou a pensar numa pesquisa com o objetivo de explorar esse material, produto de observação e supervisão,
1 Publicado em 2004 em Pesquisando com o Método Psicanalítico, Caso do Psicólogo, São Paulo, pp. 223-243.
34. Pesquisa em psicanálise: a metodologia qualitativa na pesquisa
Maria Cecilia Sonzogno
O método científico é historicamente determinado. Ele é reflexo de nossas necessidades e possibilidades materiais. Ele transforma-se no decorrer da História, em função de diferentes interesses, necessidades e evolução tecnológica.
A pesquisa científica é uma atividade humana que realiza o confronto entre as evidências, as informações da realidade e o conhecimento teórico acumulado. Esta atividade humana é realizada dentro de um contexto social e partilhada com seus pares, caracterizando uma dimensão social da produção de conhecimento.
A partir do século XVIII a produção de conhecimento científico começou a ganhar características próprias na medida em que incorporava pressupostos positivistas para a obtenção do conhecimento: ênfase na objetividade, neutralidade entre pesquisador e objeto do conhecimento, mensuração e quantificação dos fenômenos sob observação, busca de relações causais ou funcionais para os fenômenos em questão. Esta maneira predominante de fazer pesquisa corresponde mais ou menos ao que se convencionou chamar de paradigma positivista. Sem sombra de dúvida, trouxe uma acumulação de conhecimento significativa para as mais diversas disciplinas científicas e coloca como objetivos da ciência a descrição, a explicação, a prevenção e controle.
Outras posições metodológicas surgiram, apresentando e discutindo outros pressupostos e abrangência para o conhecimento. Já no século XX, algumas áreas relativas às ciências humanas (sociologia, educação, psicologia, entre
35. Redimensionando o papel da rêverie na estrutura psíquica: conjecturas a partir de experiências clínicas e de pesquisa1
Marisa Pelella Mélega
Introdução
A motivação para levar adiante um projeto de pesquisa que focalizasse os inícios de uma relação foi surgindo à medida que eu analisava crianças e adultos. Perguntava-me, por exemplo, o que teria se passado com Ugo (8 anos), por apresentar grande dificuldade de introjetar, ou mesmo com Mauro (11 anos), que não conseguia usar o continente analítico para “crescer”.
E Mariana (7 anos), que, após vários anos de trabalho analítico, mantinha um terror ao contato e se fechava em suas fantasias onipotentes. Enquanto Letícia, Luísa, Marcelo e muitas outras crianças que apresentavam sintomas próximos aos de Hugo, Mauro e Mariana logo evoluíam, pondo em marcha seu crescimento simbólico.
E o que se passa com aqueles adultos que, mesmo após longa análise, voltam a procurar nova análise, na busca de “algo que não conseguiram”, movidos por angústias existenciais e /ou sintomas físicos?
O que há de tão difícil em suas personalidades que o trabalho de análise não consegue abordar ou modificar? Estaríamos diante de uma constituição “desfavorável” para a vida? Desde o nascimento? Ou que foi sendo deteriorada
1 Publicado em 2008 em O olhar e a escuta para compreender a primeira infância, São Paulo, Casa do Psicólogo.
36. Cursos oferecidos pelo Centro de
Estudos Psicanalíticos
Mãe-Bebê-Família em São Paulo
Fundamentação teórica
Todos os cursos propostos no centro de estudos têm sido conduzidos a partir de uma abordagem psicanalítica, e sua especificidade baseia-se no modo de funcionar da mente humana a partir de observação e descrição, sua fonte de conhecimento. A busca de conhecimento em psicanálise é feita a partir de uma atitude de mente receptiva aos fenômenos que emergem do relacionamento, observando-os e tentando encontrar seu significado, levando em conta o contexto em que está sendo observado o fenômeno e sua continuidade genética. A utilização desse método de observação psicanalítico leva o aluno a: constatar o nascimento e formação das relações humanas e aspectos do desenvolvimento emocional do bebê; treinar a sensibilidade para perceber condutas e inferir estados de mente para acompanhar a evolução do diálogo das relações humanas feito sem palavras, mas pré-verbalmente; possibilitar aplicações com intenção manifesta de intervir na evolução de relações mãe-bebê perturbadas.
37. Atividades científicas do Centro de
Estudos Psicanalíticos Mãe-Bebê-Família
1987 – Fundação do Centro de Estudos Psicanalíticos Mãe-Bebê-Família (CEPSI – MBF) de São Paulo. Início dos Cursos de Observação da Relação Mãe-Bebê – Esther Bick, e do Curso de Estudos Observacionais modelo Tavistock-Martha Harris.
1988 – Evento Tavistock – Martha Harris promovido pelo CEPSI-MBF com a presença de Gianna Polacco Williams (Tavistock Clinic, em Londres) e Arthur Hyatt Williams (British Psychoanalytical Society), fundadores do Centro Studi Martha Harris, em Roma.
O evento contou com seminários teóricos e supervisões de Observação Mãe-Bebê, e participaram em torno de duzentos profissionais da área da saúde mental. Na ocasião foram proferidas várias conferências, das quais destacamos:
“Observação de bebês: sua influência na formação de terapeutas e profissionais que trabalham com saúde mental e educação”, de Gianna Polacco Williams.
– “Psicanálise da mente homicida – 20 anos de experiência”, de Arthur Hyatt Williams.
–
Crianças e bebês à luz de observações psicanalíticas (São Paulo, Editora Vertice, 1988), tradução de: Thinking about infants and young children, de Martha Harris.
38. Extensão das atividades do
Centro de Estudos no Paraná
Extensão das atividades do CEPSI (Londrina – Paraná)
Orientadas por Oswaldo Dante Milton Di Loreto e Esperanza Garcia Cid, Maysa Dias Ayres e Janir Rocha foram encorajadas a virem a São Paulo para conhecer os trabalhos desenvolvidos pelo Centro de Estudos Psicanalíticos Mãe-Bebê-Família, sob a coordenação de dra. Marisa Pelella Mélega. Até então as atividades do Centro só vinham sendo conhecidas no Paraná por meio das publicações científicas deste centro que Di Loreto generosa e entusiasmadamente apresentava, afirmando ser esse o melhor seguimento para os desenvolvimentos práticos e teóricos que necessitávamos em nosso trabalho com a clínica de pacientes e suas famílias.
Em 1995, por sugestão de Oswaldo Dante Milton Di Loreto, Maysa Dias Ayres e Janir Rocha participaram do Primeiro Simpósio Brasileiro de Observação da Relação Mãe-Bebê, realizado de 24 a 26 de março de 1995, em São Paulo. Buscaram maiores informações a respeito do Centro de Estudos e do Curso de Observação – Método Esther Bick. Foi nessa ocasião que conheceram o trabalho do Centro de Estudos e fizeram o convite para que Marisa Pelella Mélega fosse a Londrina para ministrar o Curso de Observação de Bebês. Assim descreveram o encontro:
39. Evento Tavistock – Martha Harris
em São Paulo 1988
Apresentação
O Evento Tavistock – Martha Harris, marco de nossa fundação e concretização do intercâmbio com o Centro Studi Martha Harris, desenvolveu conferências, seminários teóricos, seminários clínicos e supervisões sobre o trabalho com crianças, adolescentes, adultos e famílias. Para tal realização contamos com uma comissão de organização, apelidada por Gianna1 de “Pentágono”, formada por alunos do Centro de Estudos, que não mediram esforços nem tarefas para que do Evento se tornasse realidade. São eles: Ana Rosa Pernambuco, Deborah S. Ribeiro, Dirce Maria Bengel de Paula, Heloisa Maria H. Marton, Luiz Fernando de Nóbrega, Maria da Graça Palmigiani, Maria Valéria Santos Bezerra, Tédima Soares Batista.
Contamos também com a colaboração de colegas e amigos, que, movidos pelo interesse no trabalho clínico, serviram de intérpretes. São eles: Eliane Neves, José Otávio Fagundes, Magaly Miranda Marconato, Maria Antelma Morgado, Maria Aparecida Angélico Cabral, Mariza Inglês de Souza.
Vários colegas da Sociedade Brasileira de Psicanálise que haviam anteriormente frequentado cursos da Tavistock – como é o caso de Elizabeth Lima
1 Gianna Williams Organizing tutor do Curso de Observação e vice-chairman do Departamento de Adolescente da Clínica Tavistock, Londres. Presidente do Centro Studi Martha Harris, Roma.
40. Observação de Bebês: sua influência na formação de terapeutas e profissionais que trabalham com educação e saúde mental1
Gianna Polacco Williams
Este trabalho pretende descrever um método específico para o estudo do desenvolvimento infantil, a Observação de Bebês, introduzido em 1948 por mrs. Esther Bick no currículo do Curso de Psicoterapia Infantil na Clínica Tavistock. A Observação de Bebês é atualmente o núcleo principal do Curso de Observação (Curso de Estudos Observacionais e Aplicação de Conceitos Psicanalíticos no Trabalho com Crianças, Adolescentes e Famílias), que é destinado aos que trabalham em profissões assistenciais (helping professions), e é um preparo preliminar necessário para candidatos que pretendem, futuramente, dedicar-se à formação em clínica.
Eu vou dar algumas informações sobre a metodologia e, depois, citar alguns exemplos tirados de observações reais e de situações de trabalho em que o insight, tornado possível pela experiência de observar bebês, mostrou-se muito útil. Os estudantes observam um bebê do nascimento até os 2 anos de idade, uma vez por semana, por uma hora, no mesmo dia da semana. Eles são postos em contato, pelos médicos clínico-gerais, ginecologistas ou organizações como a National Childbirth Trust, com pais que aceitam ser observados. Um contato inicial se dá com ambos os pais, geralmente antes do nascimento do
1 Este capítulo é uma adaptação do trabalho de Gianna Polacco Williams, “Reflections on infant observation and its applications”, Journal of Analytical Psychology, 29, 155-169, 1984. Tradução de Marisa Pelella Mélega e Viviana S. Starzynski. Conferência proferida no Centro de Convenções Rebouças (São Paulo), em 12 de dezembro de 1988.
41. O mundo interno da criança1
Gianna Polacco Williams
Tentarei descrever o modelo que tenho em mente quando me refiro ao mundo interno da criança, mas não começarei com uma definição. Prefiro iniciar com uma coletânea vívida de uma exposição de pinturas infantis (o que foi para mim uma experiência extremamente significativa). As pinturas tinham um tema comum: a vila onde viviam as crianças, que tinha sido recentemente inundada por um rio. A enchente não foi grande e não se perderam vidas humanas. O professor chefe de uma escola primária, muito perspicaz, sugeriu que as crianças desenhassem o que havia acontecido no dia da enchente. Foi interessante que, apesar de as crianças terem partilhado de uma experiência comparativamente similar, em que nenhuma parte da vila havia sido mais afetada pela enchente do que outra, as pinturas variavam enormemente. Lembro-me de uma mostrando a vila completamente coberta com água, de modo que só a torre, que tinha telhado plano, poderia ser vista, e muitas das pessoas foram retratadas no topo da torre com expressões muito amedrontadas. A figura também mostrava um tubarão e um peixe-espada flutuando na água, ambas sendo criaturas que sabidamente não habitavam o rio. Lembro-me vividamente também de outro
1 Este texto é uma adaptação do trabalho de Gianna Polacco Williams, “The inner world of the child”, que foi apresentado nas Conferências de Outono da Bridge Foundation em 1984. Tradução: Thais de Campos Pires. Revisão técnica: Marisa Pelella Mélega. Seminário apresentado no Centro de Estudos Psicanalíticos Mãe-Bebê-Família, em São Paulo, em 15 de dezembro de 1988.
42. Quando o paciente é a família1
Gianna Polacco Williams
Iremos relatar um período de trabalho exploratório com uma família durante oito semanas. Primeiramente, iremos nos referir ao material das sessões, relatando detalhadamente o que nós sentimos, e depois tentaremos esboçar alguns dos aspectos que consideramos ser mais relevantes para a psicopatologia da família.
Quando recebemos a carta da sra. G, por meio do Departamento de Adolescentes, pedindo ajuda para seu filho, um encontro foi marcado para a família G. O motivo pelo qual foi oferecido uma entrevista a toda a família neste período de diagnóstico é que a carta mostrava urgência em atender o paciente “escolhido”, sem mencionar nada sobre o resto da família, e isso frequentemente aponta o fato de que o problema da família está “alojado” naquele membro “escolhido”, fenômeno mantido por processos de cisão (splitting).
Cisão e projeção foram usadas como uma das principais defesas por todos os membros da família, como pudemos ver tanto pelo conteúdo quanto pela dificuldade extrema de reunir todos os ditos membros para serem atendidos ao mesmo tempo. Alguém ou escolheu ficar de fora ou foi deixado de fora. E isso nós sentimos como um aspecto muito significativo na dinâmica familiar.
1 Este texto é uma adaptação do trabalho de Gianna Polacco Williams, “Family’s flight from depressive pain”, não editado. Os terapeutas foram Gianna Polacco Williams e Arthur Hyatt Williams. Tradução: Lecy Cabral. Revisão técnica: Marisa Pelella Mélega. Conferência proferida no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo, em 14 de dezembro de 1988.
43. Dor psíquica e dano psíquico1
Gianna Polacco Williams
Desejo descrever, com algumas minúcias, o extrato de uma terapia familiar realizada juntamente com o dr. Arthur Hyatt Williams, sendo objeto desta terapia uma família que veio para a Inglaterra residir durante um curto espaço de tempo.
Foram utilizados conceitos que consideramos úteis no trabalho individual como padrão de referência.
No final deste artigo, gostaria de discutir a utilidade de transferir o modelo de setting de um trabalho clínico para outro.
Particularmente, pretendo, neste artigo, diferenciar ansiedade depressiva de depressão, e focalizar um tipo específico de “dano psíquico” – que é a consequência prejudicial do uso de defesas contra a dor psíquica. Para proceder a essa discussão, usarei de referências o material clínico na parte mais descritiva deste trabalho.
Desde o começo do nosso contato com os Johnsons, chamou atenção o sentido de “término”, e o que emergiu como um dos problemas mais relevantes
1 Este texto nos foi cedido pela autora e é um dos capítulos do livro Psychotherapy with families: an analytical approach, editado por Sally Box, Beta Copley, Jeanne Magagna e Errica Moustaki (Editora Routledge & Kegan Paul, Londres/Boston/Henley, 1981). Tradução de Daisy Maia Bracco. Revisão técnica de Marisa Pelella Mélega.
44. Dificuldades no pensar e no aprender1
Gianna Polacco Williams
Muitas crianças que estiveram sob tutela por um período de tempo substancial, especialmente no início de suas vidas, apresentam dificuldades de aprendizagem.
Esse problema é frequente o bastante para sugerir que uma ligação possa ser feita entre uma privação muito precoce e seus impactos no equipamento necessário à criança para adquirir e reter conhecimento, mas, sobretudo, para pensar.
O pensar não é para ser considerado como resultado de uma função autônoma, mas profundamente relacionado com o desenvolvimento emocional de uma criança. Em muitos capítulos deste livro nós temos visto crianças sofrerem a falta de cuidados consistentes, capazes de conter suas necessidades emocionais e suas ansiedades. Ao descrever uma criança que define a si própria dizendo: “Eu sou má, eu não sou boa, eu não consigo pensar”, seu terapeuta sugere que Ian “foi deixado com recursos mentais extremamente inadequados para fazer frente a um nível de dor capaz de sobrepujar a mais favorecida das crianças”. Como poderia Ian lidar com tal tarefa, com seu equipamento defeituoso? Se nós refletirmos sobre essa colocação, veremos que o problema é duplo. Em primeiro lugar, o equipamento é defeituoso e, em segundo lugar, mesmo um bom equipamento provavelmente
1 Este Texto nos foi cedido pela autora e é um dos Capítulos do Livro “Psychotherapy with Severely Deprived Children”, editado por Mary Boston a Rolene Szur, Editora Routledge & Kegan Paul, London, Boston, Melbourne and Henley, 1983. Tradução: Vicente Silvio Nogueira. Revisão Técnica: Marisa Pelella Mélega.
45. Adolescência: grupo e gangue1
Gianna Polacco Williams
Neste trabalho tentaremos estudar a diferença entre a dinâmica de um grupo adolescente e a dinâmica de uma gangue (gang) adolescente, em termos de dinâmica interna e externa dos grupos e gangues. Iniciaremos com descrições clínicas, subsequentemente esclareceremos teoricamente nossas hipóteses de trabalho que dizem respeito ao nosso pensamento – nossos esforços, portanto, de achar significado no material com o qual nos confrontamos. As referências a essas hipóteses encontram-se misturadas, ainda que algumas vezes, um pouco correlacionadas na primeira parte deste trabalho.
O primeiro exemplo nos proporciona material sobre o funcionamento de um grupo adolescente. Os dois outros exemplos clínicos que seguem relacionam-se mais ao funcionamento de gangues.
Dinâmica de grupo
Julia chegou por si mesma à Clínica Tavistock. Alguns anos antes ela esteve três vezes por semana em psicoterapia nessa mesma clínica, durante um ano,
1 “Adolescência: grupo e gangue” é uma adaptação do trabalho de Gianna Polacco Williams e Margot Waddell Group dynamics and gang dynamics, não editado. Tradução: Magali Marconato Ramos. Revisão técnica: Maria Elena Salles. Conferência proferida na Associação Paulista de Medicina, em 13 de dezembro de 1988.
46. Adolescência e violência1
Arthur Hyatt Williams
Costuma-se usar o termo adolescência para indicar aquele período de vida que é dominado por um estado de turbulência, resultante do irromper da puberdade, nos seus aspectos psicológicos e fisiológicos. Quando essa turbulência se aquieta no decorrer de alguns anos, dizemos que o adolescente se tornou um adulto. A puberdade é um fenômeno normal, e a adolescência, em circunstâncias particularmente favoráveis, pode transcorrer sem que nada de relevante aconteça; entretanto, se o estado de turbulência é excessivo, ela pode assumir um curso mais ou menos patológico.
Todos nós entramos em contato com duas situações complexas: uma é representada pelo mundo interno que se forma em função da atividade psíquica e que engloba os aspectos psicofísicos constitucionais do indivíduo; a outra é constituída pelo ambiente social que encontra a sua primeira expressão na família de origem. Em algumas culturas a família vive junto como uma entidade única; na nossa, por sua vez, veio se afirmando a assim chamada família extensiva, cujos membros podem estar divididos não só pela distância, vivendo em lugares afastados, mas também por diferentes níveis sociais, diferentes graus de instrução etc. As escolas e outras organizações de vários gêneros levam à formação de grupos, cuja filiação ao sentido de “pertencer” pode
1 “Adolescência e violência” é uma adaptação do Capítulo 5 do livro de Arthur Hyatt Williams Nevrosi e delinquenza, da Editora Borla Tradução: Luciana Gentilezza. Revisão técnica: Marisa Pelella Mélega. Conferência proferida na Associação Paulista de Medicina, em 13 de dezembro de 1988.
47. A psicanálise da mente homicida –20 anos de experiência1
Arthur Hyatt Williams
Em “Os delinquentes por sentimento de culpa” (1910), Freud afirma que os criminosos frequentemente praticam atos delinquenciais para aliviar seu angustiante estado intrapsíquico causado pelas fantasias inconscientes de parricídio e emparelhamento com a mãe, consequentes da não elaboração do complexo edípico. Freud aponta que os crimes são, todavia, de pouca importância se comparados com as fantasias cruéis das quais têm origem. Os resultados, completamente diferentes, das minhas pesquisas sobre homicidas me fazem voltar à mente o que Freud disse a Jones e a Ferenczi depois de ter escrito Totem e tabu: que ele tinha passado do estudo do desejo de matar para o estudo do assassinato propriamente dito e que entre ação e desejo havia um abismo.
O exame da literatura sobre os assassinos me surpreendeu porque a maior parte dos casos descritos refere-se a psicóticos, como se pode notar, sem sombra de dúvidas, nos artigos de Bromberg, Wertham, Sheehan-Dare, Podolsky, Marie Bonaparte e Alexander. Alexander, na realidade, refere-se também a uma tentativa de assassinato que fazia parte de um pacto suicida falido, da parte de um neurótico. Gold examina, do ponto de vista psiquiátrico, o estreito relacionamento entre as fantasias suicidas e homicidas, as pulsões e a ação. Bromberg se detém sobre a atividade sexual muito intensa e precoce de um paciente seu, cujas tendências à mais total submissão formavam um traço de
1 Tradução de Marisa Pelella Mélega.
48. Psicanálise da mente homicida –
20 anos de experiência: comentários1
Virginia Leone Bicudo2
“É difícil definir por que algumas pessoas matam seu semelhante e outras não. Parece importante considerar-se a impossibilidade de o homicida tolerar, por períodos de longo tempo, o conflito aterrador entre os instintos de vida e de morte ocorrendo em seu mundo interior.”
Durante vinte anos, Arthur Hyatt Williams, psicanalista da Sociedade Britânica de Psicanálise, perscrutou a mente de prisioneiros homicidas. Compôs a história da patologia dos homicidas observados e semanalmente entrevistados dentro do setting psicanalítico, durante anos. Organizou o material em um quadro histórico, o qual passamos a comentar.
Arthur Hyatt Williams inicia com seu esquema referencial teórico citando Bromberg, o qual caracteriza o homicida pela atitude sexual intrusa e precoce, pela tendência à total submissão em defesa de pulsões agressivas orais, de intenso desejo de vingança por meio do assassínio ou do suicídio.
A identificação projetiva é dinamizada para matar o perseguidor localizado no mundo exterior; quando, porém, em função da identificação introjetiva, o perseguidor se encontra locado no mundo interno do self, comete o suicídio.
1 Tradução de Marisa Pelella Mélega. Comentários à Conferência de Arthur Hyatt Williams “Psicanálise da mente homicida: 20 anos de experiência”.
2 Mestre em Ciências Sociais pela Escola de Sociologia, Instituto Complementar da Universidade de São Paulo (USP) e psicanalista didata da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo (SBPSP).
49. Programa das Conferências
São Paulo
Data: 28 de agosto
Local: Anfiteatro Principal do “Instituto de Psiquiatria Antônio Carlos Pacheco e Silva”
Endereço: R. Dr. Ovídio Pires de Campos, s/nº, Cerqueira César – São Paulo-SP
17h30 a 19h00: Workshop: “Compreensão Psicanalítica dos Transtornos Alimentares na Adolescência”
20h30: Conferência: “Estados do Corpo, Estados da Mente”
Data: 31 de agosto
Local: Centro de Convenções da FAAP
Endereço: Rua Alagoas, 903, Prédio 5, Pacaembu – São Paulo-SP
17h00 a 19h00: Workshop: “O Processo de Aprendizagem e sua Relação com o Desenvolvimento Emocional”
20h30: Conferência: “Abordagem Terapêutica ao Adolescente Hoje”.
50. Compreensão psicanalítica dos transtornos alimentares na adolescência1
Gianna Polacco Williams
Este trabalho sobre processos introjetivos se relaciona principalmente com um quadro de referências kleiniano e com conceitos de Wilfred Bion. Contudo, se tento descrever seu conteúdo, não posso pensar numa imagem mais linda do que aquela oferecida por Freud, quando falou, em “Luto e melancolia” (Freud, 1917/1957b), sobre a sombra do objeto caindo sobre o ego e as paráfrases desta sentença oferecidas por Karl Abraham, que falou do “brilho do objeto” refletido sobre o ego (Abraham, 1924).
Esse jogo de luzes e sombras na qualidade dos objetos internos adquire uma dimensão quase tangível na descrição do mundo interno e do espaço interno que é central no trabalho de Klein.2
Quero começar com a descrição de processos introjetivos mais relacionados com o jogo de luzes do que com o jogo de sombras. Quero falar, em primeiro lugar, dos processos introjetivos que facilitam o desenvolvimento. Na segunda parte deste trabalho vou focalizar um tipo especial de processo introjetivo que cria um obstáculo ao desenvolvimento.
1 Londres, fevereiro de 1995.
2 A existência deste espaço interno estava implícito, se não explicitado, no trabalho de Freud. Ele falou sobre a sombra do objeto interno, e esse objeto precisa ocupar um espaço interno. No caso de Schreber (Freud, 1911), ele falou da catástrofe externa como sendo apenas uma imagem espelhada de uma catástrofe interna.
51. Estados do corpo, estados da mente
Gianna Polacco Williams
Desenvolvi através dos anos uma hipótese sobre uma síndrome à qual me referirei como síndrome da não entrada. Estarei me referindo a essa síndrome particularmente neste trabalho, fazendo referência especial aos problemas encontrados dentro de um setting de avaliação.
A contratransferência que tentarei descrever provavelmente é uma das duas que mais me ajudaram a formular uma hipótese da síndrome da não entrada, e tem alguma coisa em comum com a contratransferência que descrevi alguns anos atrás num artigo sobre um paciente muito carente (Williams, 1974). Nesse trabalho, falei sobre um paciente cujas defesas tornaram-no uma pessoa de acesso extremamente difícil por todos aqueles que tentavam tomar conta dele, e não apenas em relação a mim dentro de um relacionamento terapêutico. Esse paciente rejeitava minhas tentativas de fazer contato com ele com sentenças como “não tenho tempo para perder com suas bobagens”, “você está falando com uma parede de tijolos”, e evocava em mim o sentimento de bater minha cabeça contra uma superfície muito dura, uma superfície impenetrável. Tenho realmente experimentado repetidas vezes em meu trabalho, com pacientes que sofrem de distúrbios de alimentação, essa percepção de não entrada, de não ultrapassagem, mas é diferente daquela que descrevi em meu trabalho de 1974. Tentarei descrever a composição da experiência da contratransferência com base no material clínico e centralizarei este estudo principalmente no trabalho
Este livro traz textos selecionados de vários números da revista Publicações Científicas do Centro de Estudos Psicanalíticos Mãe-Bebê-Família e outros artigos que foram sendo produzidos ao longo dos anos por diversos autores ligados àquele Centro. Ao mesmo tempo, é um testemunho vivo da história dessa instituição que teve como semente, desde antes de sua oficialização (em 1987), o Curso de Observação da Relação Mãe-Bebê, método Esther Bick.
A Observação da Relação Mãe-Bebê põe o leitor diante de evidências de fatos, obrigando-o a rever velhas crenças e teorias sobre os bebês, bem como sobre as funções da mãe e do pai no desenvolvimento da criança.
Autores
Agnes Poppi | Alceu Casseb | Ana Rosa Pernambuco | Arthur Hyatt Williams | Beatriz Tupinambá | Daisy Maia Bracco | Deborah S. Ribeiro | Edilaine Zamberlan Serra | Fábio Herrmann (in memoriam) | Gianna Polacco Williams | Isabel Menzies Lyth | Isaias Kirchbaum (in memoriam) | Janir Rocha | João Luiz Leitão Paravidini | Maria Beatriz Z. Montans | Maria Cecilia Sonzogno | Márcia Gimenes | Maria da Graça Palmigiani | Elizabeth Tavares | Mariângela Pinheiro | Marisa Pelella Mélega | Mariza W. Nadolny | Maysa
Prado Dias Ayres | Oswaldo Dante Milton Di Loreto (in memoriam) | Roseli C. Marques Costa | Virginia Leone Bicudo

PSICANÁLISE