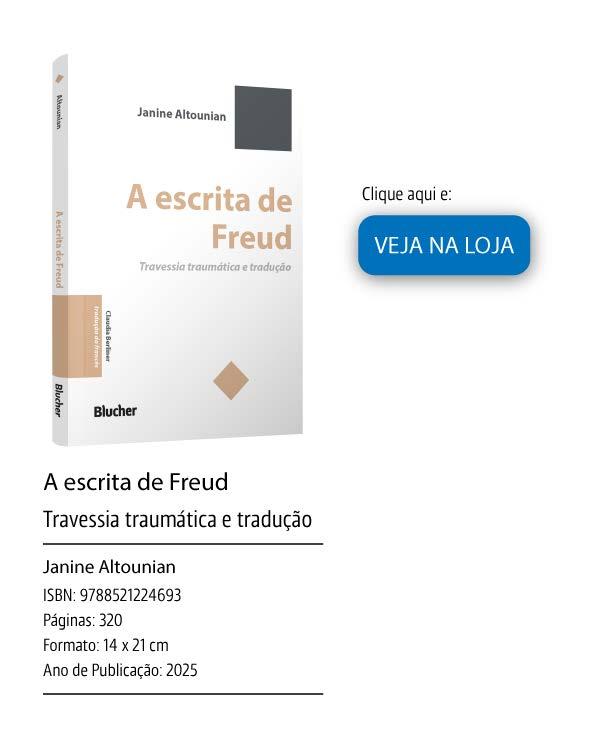Janine Altounian
tradução do francês
Claudia Berliner
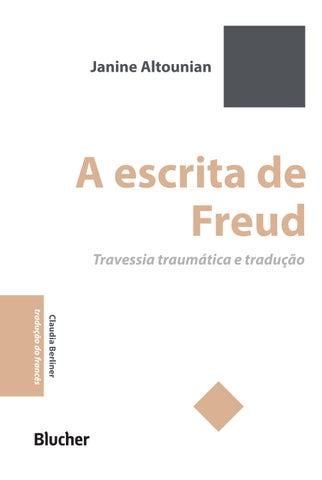
Janine Altounian
tradução do francês
Claudia Berliner
Janine Altounian
Tradução
Claudia Berliner
A escrita de Freud: travessia traumática e tradução, Janine Altounian
Título original: L’écriture de Freud. Traversée traumatique et traduction
Série pequena biblioteca invulgar, coordenada por Paulo Sérgio de Souza Jr.
© 2003 Presses Universitaires de France / Humensis
© 2025 Editora Edgard Blücher Ltda.
Publisher Edgard Blücher
Editor Eduardo Blücher
Coordenador editorial Rafael Fulanetti
Coordenadora de produção Ana Cristina Garcia
Produção editorial Luana Negraes e Andressa Lira
Preparação de texto Bárbara Waida
Diagramação Guilherme Salvador
Revisão de texto Maurício Katayama
Capa e projeto gráfico Leandro Cunha
Rua Pedroso Alvarenga, 1245, 4° andar 04531-934 – São Paulo – SP – Brasil Tel.: 55 11 3078-5366 contato@blucher.com.br www.blucher.com.br
Segundo o Novo Acordo Ortográfico, conforme 6. ed. do Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, Academia Brasileira de Letras, julho de 2021. É proibida a reprodução total ou parcial por quaisquer meios sem autorização escrita da editora.
Todos os direitos reservados pela
Editora Edgard Blücher Ltda.
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) Heytor Diniz Teixeira, CRB-8/10570
Altounian, Janine
A escrita de Freud : travessia traumática e tradução / Janine Altounian ; tradução
Claudia Berliner. – São Paulo : Blucher, 2025.
316 p. – (Série pequena biblioteca invulgar / coord. Paulo Sérgio de Souza Jr.)
Bibliografia
ISBN 978-85-212-2469-3 (impresso)
Título original: L’écriture de Freud. Traversée traumatique et traduction
1. Psicanálise. 2. Interpretação psicanalítica.
3. Psicolinguística. 4. Psicanálise e filosofia.
5. Escrita psicanalítica. 6. Freud, Sigmund, 1856-1939. I. Título. II. Berliner, Claudia. III. Souza Jr., Paulo Sérgio de. IV. Série.
Índice para catálogo sistemático:
Parte III. Corpo textual e teorização
A alma e a eficácia em um tratado de Lutero (1520) e em um artigo dos primórdios de Freud (1890) 209
Do “Judeu” de Wagner e do estudante “judeu”
Freud ao paranoico Schreber 225
Freud, um teórico da sexualidade feminina ou um homem endereçando-se a uma mulher, Lou Andreas-Salomé?
Relação dos significantes comentados
Índice de autores citados 313
Este trabalho retoma, por um lado, diversos textos que escrevi sobre a língua de Freud,1 elaborando-os de maneira mais pedagógica e articulando-os entre si sob determinada perspectiva. Trata-se, portanto, sobretudo de um estudo de sua língua, distinguindo-se claramente do que habitualmente chamam de “crítica das traduções”. Ainda que, em vários lugares, sublinhe os inconvenientes de dada opção mantida por um tradutor e proponha uma versão mais fiel à literalidade e à permanência dos significantes, não busca afirmar a supremacia desse ou daquele modelo tradutório. Contesta, antes, a pretensão própria de todo monolinguismo2 que esquece que a alteridade de um pensamento — e que a alteridade do método analítico! — se manifesta em primeiro lugar na sua língua. “Evidentemente, e enquanto escritor”, escreve Antoine Berman,
1 Cf. p. 23, nota 16.
2 No sentido do “solipsismo monolíngue”, tal como definido por Jacques Derrida em: Derrida, J. (1996). Le monolinguisme de l’autre. Paris: Galilée, p. 44.
Freud era colíngue […] Sua verdade colíngue, por assim dizer, só aparece em uma pluritradução cuja finalidade não seja de forma nenhuma a mera “comunicação” de um texto para aqueles que não conhecem sua língua, mas a atualização, a apropriação de sua essência colíngue, essencial se quisermos apreender o que ela nos diz.3
Ao notar as resistências, a estranha irritação que suscita em certos psicanalistas a lembrança de que Freud, judeu austríaco, elaborou seus instrumentos de trabalho e de pensamento numa língua que não é a deles, não podemos evitar acrescentar aos três grandes insultos impostos à megalomania do homem4 — a terra não é o centro do universo, o homem descende do reino animal e o eu não é senhor de sua casa — uma quarta: sem o socorro de uma mediação, o eu não tem nenhum acesso àqueles
3 Berman, A. (1986/1987). La psychanalyse dans l’espace de la traduction. In Art, littérature et psychanalyse: actes des rencontres de février 1986. Marseille: Passages de sujet, p. 79. Antoine Berman se refere aqui à obra, que chama de “fascinante”, de Renée Balibar: Balibar, R. (1985). L’institution du français: essai sur le colinguisme des Carolingiens à la République. Paris: PUF.
4 Cf., entre outras ocorrências: Freud, S. (1916-1917). Conferências introdutórias à psicanálise. In OC (São Paulo: Companhia das Letras, Vol. 13, p. 336); OCF/P (Paris: PUF, Vol. XIV, p. 295); GW (London: Imago, Vol. XI, pp. 294-295): “No decorrer dos tempos, a humanidade teve de tolerar dois grandes insultos a seu ingênuo amor-próprio, por parte da ciência. O primeiro, quando descobriu que nossa Terra não é o centro do universo [Copérnico] […] O segundo, quando a pesquisa biológica aniquilou a suposta prerrogativa humana na criação, remetendo a descendência dos homens ao reino animal [Darwin] […] O terceiro e mais sensível insulto, no entanto, a mania de grandeza humana deve sofrer da pesquisa psicológica atual, que busca provar ao eu que ele não é nem mesmo senhor de sua própria casa”.
Nasci em 6 de maio de 1856, em Freiberg (na Morávia), pequenina cidade da atual Tchecoslováquia. Meus pais eram judeus, e eu também permaneci judeu. Tenho motivos para crer que meus antepassados paternos viveram por longo período na região do Reno (em Colônia), fugiram para o Leste devido a uma perseguição aos judeus, no século XIV ou XV, e no decorrer do século XIX retornaram da Lituânia para a Áustria alemã, através da Galícia. Quando era uma criança de quatro anos de idade, vim para Viena […].1
1 Freud, S. (1925). Autobiografia. In OC (16, p. 77); OCF/P (XVII, p. 56); GW (XIV, p. 33).
Essas oito linhas iniciais da autobiografia de Freud concentram em si mesmas, para seus ascendentes, cinco locais de residência, dez topônimos, uma perseguição racial e/ou religiosa, duas migrações e rupturas, ou seja, para ele, três experiências linguísticas na infância e uma pertença identitária que, de saída, questiona todas as evidências habitualmente atribuídas à origem. Lemos, sob a pena de Freud, que o desenvolvimento da função libidinal é comparável a um povo que “abandona seu território* em busca de uma nova morada […], pequenos agrupamentos ou associações de migrantes* detido[s] ao longo do caminho […] enquanto a grande massa restante seguia em frente”; a um “povo em movimento* [que] deixa grandes divisões pelo caminho, ao longo das estações de sua migração*”, sendo que para “aqueles que avançaram mais longe* […] o perigo da derrota será tanto maior quanto maior o número daqueles deixados para trás* no curso da migração*”. Aprendemos como “a libido migra* e percorre o caminho inverso* […] até seus próprios locais de fixação”,2 que o sintoma é um “corpo estranho” que goza da “prerrogativa de extraterritorialidade”,3 o “recalcamento” uma “recusa de tradução”4… Todas essas
2 Freud, S. (1916-1917). Conferências introdutórias à psicanálise. In OC (13, pp. 451, 453, 496; trad. modificada); OCF/P (XVII, pp. 351, 353, 387); GW (XI, pp. 351, 353, 388). (Apresentamos, na ordem em que aparecem na citação, os termos de Freud correspondentes aos da tradução seguidos de um *: seinen Wohnsitz verläßt / Verbände der Wanderer / ein Volk in Bewegung / zurückgelassen / Wanderung / die weiter Vorgerückten / Wanderung / wandert zurück).
3 Cf. Freud, S. (1926). Inibição, sintoma e angústia. In OC (17, p. 28); OCF/P (XVII, p. 215); GW (XIV, p. 125) (Fremdkörper / Vorrecht der Exterritorialität).
4 Cf. Freud, S. (6 dez. 1896/1986). Carta a W. Fliess. In A correspondência completa de Sigmund Freud para Wilhelm Fliess (V. Ribeiro, trad.). Rio de Janeiro: Imago, p. 209;
Nosso capítulo de introdução procurou mostrar como o “retorno” após descentramento, visada de toda abordagem analítica, presidiu a de seu fundador e se refletiu no dinamismo de seu estilo. Nos próximos dois estudos, que reúnem exemplos escolhidos um pouco arbitrariamente — poderia haver tantos outros —, estabeleceremos uma espécie de “pequeno manual de língua freudiana para uso dos simplificadores”! Essa denominação tendenciosa visa aos leitores que, esquecendo muito amiúde que só conhecem o pensamento de Freud pela mediação de um tradutor — ou, ao contrário, para os germanófonos, na imediatez de uma endogamia neutralizante —, decretam que sua língua é “simples” e que a tradução não expressa sua fluidez. Após um breve apanhado sobre a língua metafórica e “científica” que contribui para a originalidade do texto freudiano,
o primeiro estudo apresentará, pois, algumas dificuldades de tradução/transmissão de ordem morfológica: o gênero neutro e as formas verbais substantivadas no neutro; o jogo das partículas verbais, dos nomes compostos; e, depois, aquelas que desafiam o pensamento freudiano em trabalho no próprio material da língua, quando uma das significações determinantes do texto emana de sua sintaxe: o percurso dos radicais; o desdobramento sintático e seu ritmo, que projetam no corpus textual o movimento pulsional teorizado;1 por fim, as dificuldades relativas a essa escrita em que se condensam, de fato, três dimensões que apenas dissociaremos por convenção retórica e que formam uma única e mesma relação de Freud com a expressão de seu pensamento: seu estilo. Essa divisão, cujo único objetivo é servir para certa clareza pedagógica na exposição, estará em muitos momentos ausente — cada um dos exemplos selecionados podendo pertencer a várias rubricas ao mesmo tempo —, já que nossa intenção é justamente mostrar como morfologia e sintaxe se aliam para gerar, na complexidade da linguagem, a marca da complexidade psíquica.
A tradução, ato de transmissão, testemunha o prazer da recepção
Costuma-se acreditar que o tradutor de um texto traduz principalmente seu sentido e que, segundo sua elegância, sua sensibilidade literária, seu apetite pela linguagem e as nostalgias que esta desperta nele, ele transmite, ademais, suas conotações
1 Cf. p. 17.
Nosso segundo estudo tratará mais precisamente da língua de Freud na Traumdeutung, pois, para essa obra escrita por Freud em 1899 — ou seja, relativamente no começo do que será, até sua morte em 1939, a sua carreira de escritor/fundador de um método de pensamento —, o trabalho de tradução nada mais faz senão apresentar, de maneira exacerbada, as dificuldades encontradas na tradução de sua obra em geral. Assim, certos desenvolvimentos serão apenas uma ilustração, dentro de um mesmo corpus, das observações que fizemos nas páginas precedentes.1
1 Entre outras, as pp. 36-ss., 49-ss, 62-ss., 81-ss., 102-ss., 106-130.
Nessa obra inaugural, Freud consegue, por um lado, “esbanjar […] sua espirituosidade” e, “como o pequeno alfaiate do conto de fadas”, expor a “habilidade com a qual o trabalho do sonho atinge, toda vez, mediante modos de expressão multívocos […], sete moscas de um só golpe”.2 Ante essa aptidão para amarrar denotação e conotação imprimindo ao enunciado um funcionamento metalinguístico, a tradução só pode recorrer seja à indicação [entre colchetes] dos significantes em jogo no original, seja aos comentários em notas. Por outro lado, na condição de inovador de discursividade, ele cunha, como vimos, termos aparentemente simples para um leitor germanófono, cúmplice das ressonâncias de sua língua, com valores semânticos determinados, constitutivos de seu pensamento, e redistribuídos segundo leis elaboradas para edificar o conjunto de um aparelho teórico. Essa função, que Jean Laplanche caracterizava como “a função singular de enraizamento do conceito na língua”,3 promove então efetivamente uma pretensa simpli-
2 Para o modo de leitura desse “dossiê”, consultar a apresentação anterior, p. 19.
1
Freud, S. ([1899]1900). A interpretação dos sonhos. In OC (4, Cap. VII, A. “O esquecimento dos sonhos”, p. 578; trad. modificada).
GW (II/III, cap. VII, p. 528): “die Geschicklichkeit der Traumarbeit […], durch mehrdeutige Ausdrucksweise jedesmal […] sieben Fliegen mit einem Schlage zu treffen, wie der Schneidergeselle im Märchen”.
— OCF/P (IV, p. 576): “l’habileté avec laquelle le travail de rêve touche à chaque fois, par un mode d’expression multivoque […] sept mouches d’un coup”.
— L’Interprétation des rêves (I. Meyerson, trad.; D. Berger, amp. e rev.). Paris: PUF, 1967, p. 445: “la dextérité du rêve qui s’efforce par des expressions à sens multiple, comme le petit tailleur du conte, de tuer * sept mouches à la fois”.
3 Laplanche, J. (1989). La nouvelle traduction des œuvres complètes de Freud aux PUF. In Cinquièmes Assises de la traduction littéraire. Traduire Freud (Arles, 1998).
Em sua obra sobre a tradução enquanto prova do estrangeiro, Antoine Berman, retomando Schleiermacher,1 escreve: “em literatura e em filosofia, o autor e seu texto estão presos nessa dupla relação com a linguagem […] há ao mesmo tempo modificação da língua e expressão do sujeito”.2 Se, portanto, a expressão do
1 Friedrich Schleiermacher (1768-1834), um dos filósofos do romantismo alemão, proferiu em 24 de junho de 1823, na Academia real de Ciências de Berlim, uma conferência, Os diferentes métodos de tradução (cf. p. 181, nota 13, 5), da qual Berman apresenta e comenta longos trechos em: Berman, A. (1984/2002). A prova do estrangeiro: cultura e tradução na Alemanha romântica — Herder, Goethe, Schlegel, Novalis, Humboldt, Schleiermacher, Hölderlin (M. E. P. Chanut, trad.). Bauru: EDUSC.
2 Berman, A. (1984/2002). A prova do estrangeiro (M. E. P. Chanut, trad.). Bauru: EDUSC, p. 261.
Traduzir significantes, tradutores inaugurais de uma experiência traumática...
sujeito passa necessariamente pela modificação da língua, a questão deste capítulo — inspirada tanto por um trabalho de cotradutora de Freud quanto por análises de textos portadores de uma transmissão traumática, escritos, ou melhor, pensados em alemão — poderia ser enunciada assim: o que acontece, em uma tradução em língua estrangeira, com a recorrência das representações de palavra e com as figuras de sintaxe que constituem os principais significantes dos afetos e dos objetos internos de um autor, se as necessidades da tradução ou a opção do tradutor tornam impossível a permanência dos valores que lhes correspondem na língua de chegada?3 Em outras palavras, “a escrita de si” ainda é pertinente quando o pré-consciente do “si”, ou seja, sua rede de elementos significativos que emanam do inconsciente, não pode ser mantido na língua do leitor estrangeiro, em leitmotive identificáveis “ao pé da letra”?
Na verdade, essa questão banal apenas retoma a paradoxalidade inerente a qualquer tradução. A hipótese que no entanto exponho aqui — referindo-me, aliás, às duas acepções em francês do termo alemão Übertragung: “tradução”, mas também “transmissão/transferência” — seria de que a perda na qual deve consentir toda tradução é particularmente danosa à transmissão quando se trata de traduzir em língua estrangeira uma escrita que, já na língua do original, procurava traduzir a experiência do traumático; em suma, quando se trata de 3 Por esse motivo, em La survivance — uma das duas obras sobre a transmissão traumática mencionadas (ver p. 20, nota 10) —, às vezes propus uma tradução mais literal das citações de Jean Améry. Cf. Altounian, J. (2000). La survivance: traduire le trauma collectif. Paris: Dunod. (Col. “Inconscient et culture”).
A questão que este capítulo discute poderia ser enunciada tendenciosamente assim: o que perturba a lembrança de um filho deve perturbar um tradutor?
Examinemos, com efeito, a tradução de uma segunda passagem do corpus freudiano — escrita 37 anos depois — que se refere ao pai ou, mais precisamente, a uma outra forma de inadequação que afeta sua figura em “Um distúrbio de memória na Acrópole”.1
1 Freud, S. (1936). Um distúrbio de memória na Acrópole. In OC (18, p. 448); OCF/P (XIX, p. 325); GW (XI, p. 250). ([N.T.]: Em tempo, o título alemão, “Eine Erinnerungsstörung auf der Akropolis”, também pode ser vertido por “Um distúrbio de lembrança na Acrópole” — sentido que será explorado adiante pela autora.)
Traduzir o que um “distúrbio” da lembrança transmite
Restituir uma “falsificação” com exatidão
Desta vez, já não se trata da inadequação entre a figura “heroica” que a criança decepcionada teria desejado ter em seu pai, “ o homem grande e forte que segurava o garoto pela mão”,2 e o protagonista real de uma “situação […] que não [o] satisfazia”,3 mas da inadequação de certo modo inversa — de um filho gozando de uma liberdade, desconhecida do pai e que ele paga com um sintoma: o distúrbio de sua lembrança por uma “moção de piedade”.4 Não sentia ele certa culpa por viver, na realidade efetiva, os privilégios que o pai lhe prometera ao querer, mediante um relato dos tempos em que era “jovem”, mostrar-lhe “como eram melhores os tempos em que [o filho] vivia”?5 Seria interessante lembrar aqui o complemento de interpretação que um autor como Bernard Penot traz para essa inadequação, no contexto de um estudo sobre os efeitos da “abolição simbólica” resultante do desmentido recíproco das instâncias parentais: diante da vista da Acrópole, explica ele, um distúrbio desrealizante toma conta de Freud, herdeiro das duas culturas, a cultura judaica do pai e aquela que, nos tempos bíblicos, foi sua inimiga: a cultura grega.6
2 Cf. p. 183.
3 Cf. p. 183.
4 Freud, S. (1936). Um distúrbio de memória na Acrópole. In OC (18, p. 449; trad. modificada); OCF/P (XIX, p. 338); GW (XVI, p. 257).
5 Cf. p. 183.
6 Cf. Penot, B. (1989/1992). Além de um distúrbio da recordação. In Figuras da recusa: aquém do negativo (F. Settineri, trad.). Porto Alegre: Artes Médicas, sobretudo
alma
eficácia
Pode ser rico em ensinamentos partir dos significantes textuais — em certo sentido, do corpo do pensamento —, e não da teorização que eles ajudam a edificar, para apreender o pensamento inovador de diferentes fundadores. Colocar em perspectiva transversal suas ferramentas linguísticas pode, assim, abrir um novo espaço de pensamento, e o trabalho do filólogo pode relativizar ou enriquecer o do ideólogo.2
1 Este estudo foi elaborado, em parte, no âmbito do grupo “Luther”, um dos grupos de pesquisa em psicanálise/ciências sociais criado pela Mission Recherche (MiRe) em junho de 1990.
2 Cf. a magistral análise da ideologia nazista por meio de sua língua realizada por Victor Klemperer: Klemperer, V. (1947/2009). LTI: a linguagem do terceiro Reich (M. B. P. Oelsner, trad.). Rio de Janeiro: Contraponto, 2009.
A alma e a eficácia em um tratado de Lutero (1520)...
Nossa primeira confrontação tratará, pois, de um dos significantes mais frequentemente presentes no texto freudiano: die Seele (a alma). Com efeito, é surpreendente poder relacionar — quanto a esse termo associado a Freiheit (liberdade) e a outros entre os seus significantes marcantes — dois textos escritos a quase quatro séculos de distância: “Da liberdade do cristão” e “Tratamento psíquico (da alma)”, em que Lutero e Freud dão, respectivamente, para questões decisivas concernentes à condição humana, respostas passíveis de favorecer a comparação:
— Onde se decidem, para o homem, as questões fundamentais de sua existência?
Não no corpo e suas obras, protesta Lutero; não no corpo apreendido pela medicina, demonstra Freud, mas na alma e na sua relação de crença com um outro — o outro da fé, para Lutero; o outro da transferência, para Freud.
— O que é proveitoso para a alma?
Não o agir das práticas (religiosas ou terapêuticas) que afetam o corpo, mas a fala, as palavras, esses agentes eficientes — da fé, para Lutero; do sentido inconsciente a decifrar, para Freud.
Corpo e liberdade de alma em dois “reformadores”
É interessante notar aqui que Lutero, tradutor do santo Livro para um alemão “ao alcance de todos”, seja qual for a pertença dialetal de cada um — fundador, nisso, do alemão moderno e incitador de consciência nacional —, contribuiu, desse modo, para o fundamento linguístico e cultural no qual Freud, herdeiro
Ao passar dos vocábulos Jude e Volk de um panfleto antissemita wagneriano a suas ressonâncias no jovem Freud — que, na universidade, recusava a discriminação de que era objeto enquanto “judeu”, adquiria uma “independência de julgamento” ao se ver assim “banido da maioria compacta”1 e se tornaria mais tarde o teórico da paranoia —, este capítulo se propõe a relacionar o duplo destino que dois criadores de língua alemã, Freud e Wagner, atribuem ao mesmo significante Wahn (delírio) e a seus derivados.
Para tanto, ele examina o antissemitismo wagneriano na sua literalidade e, a partir daí, confronta as palavras, as metáforas, a retórica do Wagner antissemita, cujos textos são ignorados
1 Cf. a seguir, p. 250.
Do “Judeu” de Wagner e do estudante “judeu” Freud ao paranoico Schreber
com excessiva frequência, com as do Wagner dramaturgo, cujos arrebatamentos musicais pungentes, extraordinários, fazem perdoar a pastosidade textual enfadonha. Liga, assim, cinco campos semânticos: o do panfleto, o dos libretos de ópera, o da correspondência de Wagner, o do caso Schreber e o da “Autobiografia” de Freud2 — em que este se apresenta como um dos estudantes “judeus”, potenciais leitores do panfleto.3
Para mostrar de que maneira o nazismo foi, entre outras coisas, um “nacional-estetismo”, Philippe Lacoue-Labarthe declarou: “O racismo — e muito particularmente o antissemitismo — é sobretudo, fundamentalmente, um estetismo (em essência, “o Judeu” é uma caricatura: a própria feiura)”.4 Além disso, referindo-se à opinião do cineasta Syberberg — segundo a qual o modelo político do nacional-socialismo foi a obra de
2 Freud, S. (1911). Observações psicanalíticas sobre um caso de paranoia relatado em autobiografia (O caso Schreber). In OC (10); OCF/P (X); GW (VIII). Freud, S. (1925). Autobiografia. In OC (16); OCF/P (XVII); GW (XIV).
3 Wagner, R. (1850/1975). Das Judentum in der Musik. In Die Kunst und die Revolution (T. Kneif, org.). München: Rogner und Bernhard. Em francês: Wagner, R. (1850/1913). Œuvres en prose de R. Wagner (Vol. 7; J. Prod’homme, trad.). Paris: Delagrave. Esse panfleto foi publicado por Wagner uma primeira vez em 1850 sob o pseudônimo “Freigedank” (pensamento livre), que supostamente representava, segundo esse qualificativo de fachada, um autor ainda timorato demais; e uma segunda vez em 1869, em nome próprio e de forma deliberada, apesar do temor do prejuízo que poderia causar ao sucesso de que o autor gozava entre seus inúmeros adeptos e intérpretes judeus. Freud entrou na universidade com 17 anos, quatro anos depois de o panfleto sair do anonimato.
4 Lacoue-Labarthe, P. (1987). La fiction du politique: Heidegger, l’art et la politique. Paris: Christian Bourgois, p. 110.
Nossa última confrontação se dará, desta vez, no plano semântico e no âmbito de um mesmo autor, Freud, captado, contudo, em duas posturas diferentes de escrita: o pesquisador e o epistológrafo, o teórico que escreve sobre a mulher e o homem que escreve a uma mulher. Com efeito, o enigma que brota da leitura da correspondência Freud/Lou Andreas-Salomé suscita em cada leitor — e sobretudo, talvez, em cada leitora — certa perplexidade: por que existe tamanha diferença, até mesmo uma estranha contradição, entre as teorias de Freud — alguns diriam: “teorias infantis” — sobre a feminilidade e o que nele se percebe acerca de sua apreciação do feminino no seu contato direto com uma mulher, Lou Salomé, ao longo de toda a troca epistolar que terá com ela durante 24 anos? — de 1912
Freud, um teórico da sexualidade feminina ou um homem endereçando-se...
(Freud tem então 56 anos; Lou, 51) até 1936 (Freud estará com 80 anos e Lou, alguns meses antes de sua morte, com 75).
Não cabe neste estudo retomar as bem conhecidas teorias do pai da psicanálise sobre a sexualidade feminina.1 Vamos nos limitar a citar, reagrupando apenas duas ordens de reflexão destacadas, longos excertos do corpus textual dessa correspondência na qual a heterogeneidade entre os pontos de vista do pensador escrevendo sobre a mulher e do homem escrevendo a uma mulher torna-se flagrante; como se, em cada um desses pontos de vista, a “vista” de Freud — pois, na sua teoria, trata-se justamente do “ver ou não ver” um pênis na menininha — apreendesse respectivamente esse mesmo objeto sob dois ângulos de visão diferentes, seja enquanto sexo familiar que falta, seja enquanto sexo outro que, dotado em seu ensaio de 1919 de uma “inquietante familiaridade”,2 é aqui reconhecido e grandemente apreciado pela sua diferença.
1 O leitor poderá consultar, entre outros, os seguintes textos: Freud, S. (1905). Três ensaios sobre a teoria sexual. In OC (6), OCF/P (VI), GW (V); Freud, S. (1923). A organização genital infantil. In OC (16), OCF/P (XVI), GW (XIII); Freud. S. (1924). A dissolução do complexo de Édipo. In OC (16), OCF/P (XVII), GW (XIII); Freud, S. (1925). Algumas consequências psíquicas da diferença anatômica entre os sexos. In OC (16), OCF/P (XVII), GW (XIV); Freud, S. (1926). A questão da análise leiga. In OC (17), OCF/P (XVIII), GW (XIV); Freud, S. (1931). Sobre a sexualidade feminina. In OC (18), OCF/P (XIX), GW (XIV); Freud, S. (1933). Novas conferências introdutórias à psicanálise. In OC (18, “A feminilidade”), OCF/P (XIX), GW (XV).
2 Cf. Freud, S. (1919). O inquietante. In OC (14); OCF/P (XV); GW (XII). Cf. ainda: Freud, S. (1919/2021). O incômodo (P. S. de Souza Jr., trad.). São Paulo: Blucher.
O descentramento na origem da psicanálise
seinen Wohnsitz verlassen
Verbände der Wanderer
ein Volk in Bewegung zurücklassen
Wanderung
die weiter Vorgerückten zurückwandern
— Fremdkörper
Vorrecht der Exterritorialität
27
1 Os termos declinados ou conjugados nas citações figuram aqui respectivamente no nominativo e no infinitivo. Estão dispostos de modo a pôr em evidência sua continuidade de radical.
— Verdrängung
Versagung der Übersetzung — das Unheimliche die Übertragung.
die Entstellung die Ableitung der Umweg die Spur die Spaltang die Unterdrückung die Verfolgung die Verdrängung die Umsetzung
Um retorno por desvios a fim de re-encontrar
A experiência do exílio predispõe ao descentramento
As relações de imbricação na língua de Freud 33
— Seelenapparat
Seeleninstrument
Kotsäule
weibliches Geschlechtsglied
Os afixos figuram a estratégia do descentramento 36 — hinüberlenken
Ablenkung
Umweg wiederfinden aufgedrängt
Drang verdrängt
“Se as palavras do analista retomam, ressigni cando-os, os afetos do analisando, que pode, assim, pela narração de sua vida, subverter sua língua de partida para dela se reapropriar, é porque a sensibilidade de Freud à circulação das palavras no pré-consciente do paciente — a suas concordâncias, suas repetições, suas cadeias associativas, suas pontes verbais — revela, no estabelecimento da escuta analítica, bem como em sua escrita, uma mesma prática signi cante. É ela que a tradução deveria poder testemunhar minimamente.”
Janine Altounian
pequena biblioteca invulgar