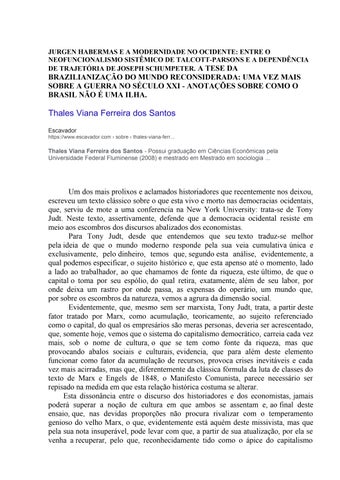JURGEN HABERMAS E A MODERNIDADE NO OCIDENTE: ENTRE O NEOFUNCIONALISMO SISTÊMICO DE TALCOTT-PARSONS E A DEPENDÊNCIA DE TRAJETÓRIA DE JOSEPH SCHUMPETER. A TESE DA BRAZILIANIZAÇÃO DO MUNDO RECONSIDERADA: UMA VEZ MAIS SOBRE A GUERRA NO SÉCULO XXI - ANOTAÇÕES SOBRE COMO O BRASIL NÃO É UMA ILHA.
Thales Viana Ferreira dos Santos
Escavador
https://www.escavador.com › sobre › thales-viana-ferr...
Thales Viana Ferreira dos Santos - Possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal Fluminense (2008) e mestrado em Mestrado em sociologia
Um dos mais prolixos e aclamados historiadores que recentemente nos deixou, escreveu um texto clássico sobre o que esta vivo e morto nas democracias ocidentais, que, serviu de mote a uma conferencia na New York University: trata-se de Tony Judt. Neste texto, assertivamente, defende que a democracia ocidental resiste em meio aos escombros dos discursos abalizados dos economistas.
Para Tony Judt, desde que entendemos que seu texto traduz-se melhor pela ideia de que o mundo moderno responde pela sua veia cumulativa única e exclusivamente, pelo dinheiro, temos que, segundo esta análise, evidentemente, a qual podemos especificar, o sujeito histórico e, que esta apenso até o momento, lado a lado ao trabalhador, ao que chamamos de fonte da riqueza, este último, de que o capital o toma por seu espólio, do qual retira, exatamente, além de seu labor, por onde deixa um rastro por onde passa, as expensas do operário, um mundo que, por sobre os escombros da natureza, vemos a agrura da dimensão social.
Evidentemente, que, mesmo sem ser marxista, Tony Judt, trata, a partir deste fator tratado por Marx, como acumulação, teoricamente, ao sujeito referenciado como o capital, do qual os empresários são meras personas, deveria ser acrescentado, que, somente hoje, vemos que o sistema do capitalismo democrático, carreia cada vez mais, sob o nome de cultura, o que se tem como fonte da riqueza, mas que provocando abalos sociais e culturais, evidencia, que para além deste elemento funcionar como fator da acumulação de recursos, provoca crises inevitáveis e cada vez mais acirradas, mas que, diferentemente da clássica fórmula da luta de classes do texto de Marx e Engels de 1848, o Manifesto Comunista, parece necessário ser repisado na medida em que esta relação histórica costuma se alterar.
Esta dissonância entre o discurso dos historiadores e dos economistas, jamais poderá superar a noção de cultura em que ambos se assentam e, ao final deste ensaio, que, nas devidas proporções não procura rivalizar com o temperamento genioso do velho Marx, o que, evidentemente está aquém deste missivista, mas que pela sua nota insuperável, pode levar com que, a partir de sua atualização, por ela se venha a recuperar, pelo que, reconhecidamente tido como o ápice do capitalismo
industrial – um processo advindo do mundo liberal segundo a normativa relação contratual no modelo de livre-cambismo adotado pela sociedade liberal - veio a lume com o tratamento da economia pelo surgimento das fábricas, expandindo o comercio em colônias ao redor do mundo – e, temos isto em mente, apenas, ao procurar salientar a existência de uma cultura, o que no capitalismo inglês seria notório, mas que, atualmente, incita a propor que encarássemos todo elemento social como produto da cultura humana.
Dito isto, de onde que mesmo não abdicando de analisar o problema em tela da acumulação no que tange, sobre o capitalismo atual, portanto, numa palavra, sua lógica sistêmica, apontada por Marx, como modo de produção industrial, desde que relembrando-se, ainda assim, os atores segundo relações societárias de produção capitalistas, jogam papel semelhante a lógica do mundo livre-cambista, ou mercantil, o que faz-se aqui, a partir de uma consideração cerrada sobre o mundo social, partindo de que o capitalismo têm componentes culturais, para, enfim clarificar, antes de tudo, que, sem que não ficasse claro que, conquanto, emprestássemos de Karl Marx, um fator a ser especificado (leia-se a cultura da inovação), mesmo que, somente, pois, depois da queda do muro de Berlim, o que ocorreu como resultado da segunda grande-guerra mundial, que dividiu o mundo em esferas capitalistas e socialistas, segundo o costume, veremos que, entre os economistas, não podemos remontar ao processo das guerras ao capitalismo enquanto modo de produção, como a lógica histórica imputaria, como se, em consonância com a dialética, decorridos 300 anos desde a revolução gloriosa de 1689 na Inglaterra e, ao processo que trouxe esta modernidade, o fim do mundo bipolar, o surgimento de um sistema global de dominação em que a guerra seria cada vez mais saliente, fosse necessariamente férreo, afinal, o socialismo ainda assim não teria sofrido as muitas vinganças da história, mas, o historiador inglês não determinou naquela ocasião o que nos parece claro pela análise da teoria crítica, no que tange a inovação no capitalismo democrático, desde que relembremos a tese de Marx.
Com o fim da Guerra-Fria, a noção de que o mundo em geral, que se parece cada vez mais com esta realidade de uma cultura, numa suposta aldeia global, sob esta ótica, seria irrelevante, para o pensador alemão, se o que pareceria gratuito, a nós, a princípio, aquando, ao notarmos a análise deste filósofo e economista, escrevera já sob o impulso das potências capitalistas, sobretudo a Inglaterra, mas quando os textos tributários ao velho Marx, vêm a lume, com sua estrondosa análise da forma elementar de produção do capital, a mercadoria, se este mundo existe, no entanto, se pensarmos que isto se ocorre quando os Estados se embrenham numa disputa sem fim por matérias-primas e mercados, como se esquecer, dos conflitos gerados por este modo de produção, internamente, por que o trilho do mundo industrial parece ter feito o trem do capitalismo descarrilhar durante o século XX?
Ainda assim, procuramos focar neste texto, a palavra cultura, para notar que, desde o ponto de vista de Marx, o que ocorreu no Brasil após o ciclo econômico do café e nos demais países da América Latina, ou até entre nós, ainda quando, pois, pela própria lógica do sistema, em que, muitos dos problemas da modernização persistem, se da simplesmente porque a escolha da administração da economia e seus agregados, em todo este termo que hoje recuperamos, do passado que cobre o entre-
guerras e o imediato século XX, pareceu ser capitaneado pelo Estado, pelo menos desde as independências do século XVIII e XIX, aprofundando-se, pois, após as guerras, não obstante, fica claro que, para fins de valorização produtiva do capital externo, sem uma visão que carreasse a questão social a contento, aumentando a participação cívica, as teses de participação politica e de identidade cultural sempre esbarrariam na falta de democracia, assim, meu intuito seria determinar como isto ocorreu no Brasil, principalmente com o fim da nova republica, correlacionando ao tema da guerra já que a metáfora de Schumpeter para o capitalismo, a de que o capital -destrói para criar -, parece ser conduzida de forma cuidadosa entre estes mesmos economistas, diante dos quais a modernidade parece se resumir ao mundo capitalista após a revolução industrial. Mas, relembrando, segundo a célebre frase de Margaret Thatcher, aquela mesmo, a de que ``não há alternativas`` (leia-se ``there is no alternative`` - sobre o Liberalismo referenciando-se, em seu modelo radical, pela premiê britânica, o que sobre o fim do eurocomunismo, restava aos neoliberais atestarem por eles mesmos), ou de autores mais prolixos sobre uma mesma nota cultural contemporânea, a que que a História chegou ao fim, ainda que se preferira abordar as questões atuais, mesmo quando ainda que se repitam como farsa, cumpre notar sua resoluta impossibilidade, ou seu anti-racionalismo, em postular a nota seguinte, a ser que a historia acabou, ao que, procuro responder não aos dilemas da guerra, mas revisitar a tese do mundo, este ainda mais atual, purgado de pessoas sem direitos e sem proteção do anteparo que sempre foi a mola mestra da formação dos Estados desde o início do mundo moderno, com o nacionalismo, mas que, em muito por obra do capitalismo, no que tange a cultura que o mesmo emula, parece sempre sufragar-se ante a um Estado, com seu anarquismo livrecambista, em que o conflito parece ser propriamente decorrência lógica de sua estruturação de uma relação social contraditória, sem peias ao contratualismo. Com efeito, por enquanto - temos uma apreciação disto quando Marx escreve na Ideologia Alemã, que, para o capital, o sistema se faz, porque depende do lucro de seu negócio mesmo quando está às voltas com o comércio como em Marx – nisto, que dissemos ser a noção basilar, porque cria o domínio público, está o conceito de remessas de lucro, que instaurou no Brasil um movimento pendular entre política nacionalista de um lado, que, vez por outra, em situação de liquidez no mercado internacional, deve levar a um novo ciclo de políticas liberalizantes, ou ao que deixamos em aberto, munidos daquela pergunta central que o orienta, pela qual centramos o objetivo crucial ora discorrido neste texto, que consiste nas forças históricas eivadas por estes direitos, ou desprendidas como formas de ser pelos ecos da declaração no mundo atlântico quando abordamos que: estes acontecimentos a serem regidos por fatores relativos e tendenciais, quase sempre questionadores da ordem vigente, não impediram, pois, que indentificassemos nas manifestações mais pueris da ordem mundial, uma nova configuração do poder mundial, como faz Meszaros, fazendo-nos com que voltassemos a atenção para a universalização das relações de produção, pois, Furtado procura no capítulo I "Poder e espaço numa economia que se globaliza" simplesmente, pôr em relevo aspectos destas relações internas diante de uma estratégia nitidamente globalista dos novos atores no sistema interestatal.
Isto ocorre por que a atual crise de paradigmas apenas funciona como ente filosófico de um discurso econômico de cariz keynesiano, estando a obliterar a critica do cientificismo reinante desde o iluminismo, pela sua transformação bem assim, por um pretenso dialogo com suas tradições, enquanto tomamos a tradição pela filosofia subjacente a estas visões de mundo, em cada filosofia pragmática, por assim dizer, denegada pelo que vemos de uma incipiente segunda fase de subjetivação da qual, alertada, pois, nos autores supra-citados, como Bauman, numa tradição de ciência que parte de uma consciência que, uma vez subjetivada - nada menos pelo esteio de um discurso prevalecente, que vigoram hodiernamente, incólumes, caso em que notávamos na encíclica do texto de Tony Judt e na fala da dama de ferro, desta feita por uma suposta vitória histórica de uma cultura da inovação -, sem restaurar a temática do aprofundamento de uma relação por si só problemática , bem depois, no seu terceiro governo, após uma ocasião em que houvera sendo paulatinamente percebido neste debate entre os honoráveis economistas, o estabelecimento do que Gilberto Dupas, memorável pensador da Universidade de São Paulo, determinou como a metáfora elegante de Joseph Schumpeter, autor Checo da Universidade de Chernovitz, pelo termo destruição criativa, todo o intento deste artigo, vale dizer, retomando sem deixar esvair, o que, por Dupas, ao proferir pelos idos de 2003 em seminário da UNESCO, o que dentro dos estados mentais daquela época remontava ao que os comportamentos dos agentes econômicos se remetiam, meramente a até escritura da obra Schumpeteriana, pelo que esta se deixava entrever.
Para isto, a rigor, para que possamos responder a forma com que o mundo se parece com o Brasil, partindo de que vivemos não um clima de guerra, pretendo notar que estes elementos se colocam como uma cultura em que o ciclo que se avizinha, não parece dar peias ao otimismo e, ao pensar quando mesmo a região mais populosa do mundo, aliás, uma região em disputa pelas potências durante o decorrido do século XX, persiste por fazer ressoar a tese da destruição criativa de Schumpeter, não obstante tornasse a baila, após os horrores da guerra do Afeganistão, depois dos atentados terroristas de 2011, e do ensaio de elaboração neoconservadora com a doutrina Bush, como entender que o mundo parece cada vez mais com o Brasil, se lembrarmos da citação da metáfora de Gilberto Dupas sobre Joseph Schumpeter? A economia, conhecida como dismall science, ou ciencia triste, talvez por obra dos economistas desde a revolução inglesa e suas construções áridas e cheias de percalços, teoricamente e, como se isto não bastasse, no dia dezesseis de outubro de 2023, decorridos mais uma quinzena de dias de um conflito que pode gerar uma guerra na região, novamente, a opinião de Putin era não a de condenar o Hamas, mas apenas o terrorismo, reagindo diante do papel de Israel na guerra, que poderia em meio aos dilemas de Netanyahu, ainda assim, bem que poderia existir um acordo com os dois lados, de tal forma que condenasse (pretensamente) - e não condenava a Palestina, mas sim o Hamas – não obstante, lavasse suas mãos mesmo que o terrorismo, não fosse agente destruidor numa realidade não tão distinta daquela em que está envolvido a dezessete meses na Ucrânia.
Por ora, mesmo que próximos da posição histórica do Brasil, de defender a criação do Estado na Palestina, mesmo após 1967, a opinião do comandante de ferro da Rússia, diretamente se distancia daquela do presidente Norte-Americano, que
disse que era preciso seguir as recomendações da Organização das Nações Unidas em reestabelecer corredores de assistência humanitária, por toda a Cisjordânia, em que a população que sofre com a guerra no lado árabe, não se extinguisse, os palestinos e árabes sunitas em geral, para, assim, simplesmente por força, da questão limítrofe de Israel, preservar uma não menos pretensiosa unidade, o que provavelmente gerará uma semana depois, no dia 23 de outubro, com o veto dos Estados Unidos da América no Conselho de Segurança da ONU, para atender a formação de corredores humanitários, algo que o Brasil sempre pretendera segundo a posição histórica. Assim, em sendo a palestina, que deteria o respaldo da ONU de se defender, mas não de ser dizimada na iminente invasão da Cisjordânia, onde se centra o poder da organização da libertação palestina, por força dos acontecimentos que assolam Israel, uma vez que, tendo sido compelidos pelo Hamas, na medida em que ainda reservasse papel para o Brasil quando se deixa ver no espelho da guerra? Seria esta uma questão cultural?
Noutro diapasão, o presidente da China, na pessoa de seu chanceler, dizia por sua vez que deveria ser projetada uma visão da paz, da união num mundo de guerras, e condena os ataques do Hamas, alinhando-se muito mais a uma cultura milenar do que a um belicismo inconsequente. O presidente Iraniano, pelo seu chanceler, reafirmou não haver concedido auxílio para os ataques do Hamas, mesmo tendo sido articulador na fronteira norte, com os exércitos do Hezbollah. O chanceler inglês, por este mesmo lado, defende o direito de Israel a se defender, mas pretende oferecer ajuda aos palestinos em seis milhões de dólares, para que os palestinos consigam sobreviver durante a guerra, e defende a necessidade imperiosa de manter corredores de refugiados ao Egito, pelo lado do West- Bank em Israel. A presidência da União Europeia, Ursula Goldenmeyer em meio a aparição de Olaf Schöll, mandatário alemão, pretendem apoiar Israel dentro dos termos da resolução da ONU, afinal, tudo isto não parece novamente trazer o tema do capitalismo e da expansão do mundo por empresas e governos com interesses escusos? Não tem isto muita semelhança com o que vemos no Brasil? Ainda que a questão caiba alguma ressonância, mesmo em se tratando de politica externa, convém determinar suas linhas quando o Brasil, ou o Estado Nacional procura projetar um tipo de ação decisória na Organização das Nações Unidas, já que durante o conflito que, dura dois meses, ocupara a presidência do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas neste interim.
Thomás Paine, redator da carta dos direitos do homem em 1848, prescreve a todos, como o próprio título sugere, diferente de Marx, que clama a união do proletariado, em que, por sua pena concepcionista, se desse cabo dos Direitos do homem:para um mundo que, com vimos, da realidade de que derivam, considerando teoricamente este mundo, antes de tratar de globalização parece permitir todas as opiniões, mas a teoria moderna da economia, parte da formação do mundo que deságua no movimento unipolar, dos Estados Unidos da América, com uma miriade de Estados que já não podem arrogar a si mais a tarefa de garantia dos bens públicos.
Não obstante, Guido Mantega até, então distante do ministério da fazenda ainda faria seu périplo, pelo planejamento, mas já no centro dos acontecimentos que pretendo destacar neste ensaio, para lá se arvorar desassombrado, bem antes da entrevista que daria na conjuntura econômica da Fundação Getúlio Vargas, que
está encerrado no debate conhecido desde Wolfgang Streeck e Axel Honneth, sobre ˜The Brazzilianization of the World˜, sob a forma deste opúsculo, no sentido de entender sobre os movimentos anti-globalização após o 11 de setembro de 2001, a partir de algo que o governo Brasileiro ainda não deixava claro, mas que parece que a realidade dele se deixa ver, como morada pelo diretor do Insttituto Max-Planck de teoria social, o herdeiro da tradição Frankfurtiana.
Trata-se da inovação ou a cultura que lhe é subjacente, pois atualmente, na nova fase da modernidade, que, descolou a ideia de Estado do entendimento que se tinha de território, fazendo (re)surgir: novas territorialidades; a questão relativa ao problema da diversidade cultural nos territórios; e a questão relativa à aderência – ou não – da noção de cultura da inovação que se pretende promover às diferentes manifestações culturais próprias das novas territorialidades que emergem. Pois bem, atentando-nos ao que o recente prêmio Nobel em economia, entre nós, desde que de eminente figura da Universidade de Columbia, figurou já no terceiro mandato do mesmo presidente de nosso país, de quem Guido Mantega nos idos de 2001, quando, portanto, ainda como que prenunciando, desde aquela ocasião, ao ocupar sucessivamente a Antonio Palocci, um posto no governo, na medida em que se afastava das políticas do Banco Central, que, na presidência, figurava Fernando Meirelles, economista de antanho, assim é que, dialogando com a tradição de críticos da globalização capitalista, apareceu-nos como que pela mesma ótica por este missivista notada, como que munido de mais uma de suas teses Schumpeterianas, defendendo proeminentemente que, ao sabor do contraste entre a cultura da inovação na modernidade atual e a diversidade cultural que desponta com a nova questão territorial que se coloca para o desenvolvimento do capitalismo, aventasse, diante da pergunta, que primordialmente, se coloca, pois, em todas as esferas da vida públicasociais, econômicas e política, qual a condição pós-moderna da vida nas relações entre o capital e o trabalhador, nesta fase aprofundada de subjetivação do indivíduosocial, algo ainda não notado sobre o presidente Lula da Silva por sua equipe econômica, já que a inovação ainda não aprofundava ainda uma relação por si só problemática. Se a ciência econômica ganhou mais um crítico que repisa mais uma vez o caráter transitório da condição da vida comum, o célebre Nobel Joseph Stiglitz, inscrevendo a prática cotidiana, por causa dos detentores deste poder, leia-se do fator demissões, tendo aí, fatores como transformações que influenciam a vida privada, diferentemente dos economistas escolhidos por Lula da Silva como seus ministros, então, de um lado o mundo do trabalho e o Estado, bem como as instituições sociais passam por transformações; de outro, a solidez das instituições sociais (do “Estado de bem-estar”) perdendo espaço, de forma acelerada, não o faz, porque, levam a uma modernidade fracamente enervada, de cunho social amorfo dado a forma líquida que lhe é constitutiva, mas sim levando a repensar a mercantilização das expressões culturais, da mesma forma que ocorreu com a mercantilização da força de trabalho, no século XVII, mediante uma doutrina. Esta, por sua vez, tomada nesta doutrina em seu viés econômico liberalizante, seja porque conjugam como substratos de fatos conhecidos, antes que se possa apreendê-los los teoricamente, desta feita pela teoria crítica de autores como Zygmunt Bauman e Jurgen Habermas, para ficar apenas nos casos de maior proclividade, ao que, neste
racionalismo triunfal do discurso denegado por Stiglitz mas pretensamente crítico, determinando o que nele se prende - e depende do que nele se prende a uma visão geral do funcionamento destes significantes - tanto mais quanto outras referências aparecem no debate sobre a globalização, a teoria da dependência parece ressurgir ante ao problema da acumulação desde Schumpeter, determinado por condições onde a retórica no campo da ciência econômica, portanto, a cultura da inovação seria a cultura do capitalismo, isto equivaleria a determinar que partindo da categoria cultura, em Schumpeter, veríamos respondido o que para Tony Judt, além dos historiadores, que, se preocupassem com o tema da evolução da relação entre os Estados, no mundo atlântico, onde se carreia volume colossal de recursos no capitalismo a novas áreas, um conteúdo cultural que esta ação implica, tanto determinando a ação dos empresarios quanto dos governos e,que Schumpeter atribui as guerra, deveriam se perguntar, qual será o novo passo do Estado-Nacão brasileiro na linha do pacifismo cultural da diplomacia brasileira. Resumo expandido: Hodiernamente, poderia causar espanto, na medida em que pensa expor autores tão variados sob a vertente do marxismo dialético. Porém, o próprio Weber escreveu textos importantes sob a ótica da influência marcante do manifesto comunista de 1848. Naturalmente fica claro a dimensão da demo-eudhosia (regime da inquietação), que, Schumpeter talvez tenha herdado da Vestehen Weberiana que serviria de mote a teóricos como Bernard Manin. Como pensar a ideia de cultura da inovação para o conjunto das pessoas que estão excluídas? Esta pergunta, lança luz ao quê está por detrás de uma importante questão que esteve implícita na formação do capitalismo por todo o seu "caminho", numa história iniciada pela Revolução Gloriosa, em 1689, algo a ser pesquisado pelos aspectos formativos, de suas sociedades modernizadas sob o vórtice desta industrialização, mas que, no seu revolver de toda a sociedade, teve o concurso da maquinaria, enfim, da técnica. Por assim dizer, a noção de ser apresentado este trabalho, tendo como objetivo o fato de que investigar-se-á a noção de “cultura da inovação", se traduzia numa reflexão que estávamos por oferecer, e, junto dela, uma reflexão deste autor que aqui se propõe seguir nas suas linhas teóricas, que é o Schumpeter (1982), sobre o desenvolvimento do capitalismo, não propriamente, apenas, o que se tem como sua lógica de crescimento endógeno. Com efeito, antes da entrada dos Habsburgo o controle financeiro da territorialidade austríaca sediada ao norte, cuja fronteira era a Alemanha, ao leste pelo curso do rio Danúbio – com a Hungria, mais além, tinha o seu limite, como se sabe, o império bizantino. O fato de ser a marca oriental haveria de deixar os Babenberg a tarefa de controlar o comércio de toda a região, o que jamais fizeram, após a morte de Leopoldo VI. Foram – ao contrário, décadas de guerra -, promovidos por eles, enquanto personas que tiveram de passar para a história, antes que outra dinastia fosse capaz de tomar o lugar dos Babenberg na política desta região, naquilo em que teriam sido maestros, e exemplos do que nos interessa mais de perto, quando, a partir da entrada deste império na história, seria, então a marca oriental do que conhecíamos até a década de 1940 ou até antes da segunda grande-guerra mundial, sendo seu início num período que se estende de 1278 até 1439. Então, a respeito do que examinar da contemporaneidade sem Marx, de outro lado, desta citação, como vimos, que remete a eventos, que, no limite, impunham uma nova configuração do poder mundial, isto não passará incólume pelos autores citados. Até certa altura desta história da Austria, antes da evolução do historicismo, o contexto histórico da escola austríaca entendia que sua ciência econômica, que primava pelo método hipotético-dedutivo, havia sido pouco contestada como marco referencial geral, funcionava como fator do entendimento do motocontínuo, a forma do crescimento econômico cíclico da história mundial, (assim como era conhecida a modernidade anteriormente ao século XX). Anos em que aos países da região, impunha-se toda a noção em que se assentava o domínio, sob o influxo do liberalismo inglês, da Inglaterra sobre os Estados Unidos, que, portanto, depois do fim do mercantilismo, os Estados Unidos da América (EUA), de certa forma, que eram a prova de que o colonialismo estava com os dias contados no terceiro-mundo, permitisse interpretar a contemporaneidade por um viés Estado-Cêntrico, onde o nacionalismo era a pedra-de-toque, não obstante, o historicismo ainda não se formara. O conhecimento do real não leva ao reforço da postulação científica pela descoberta, mas pelo realismo de seu método, e isto apenas dentro da tradição do crescimento do conhecimento. Isto porque do todas as formas de ciência podem contribuir para fazer do pluralismo metodológico um fato ímpar. Para Gleiser, se o experimento com base na confirmação da hipótese (ou das hipóteses, considerando todo o cabedal teórico), esta crise, qual seja, que remete a ambientação política pós-historica, ao que tudo indica por representar uma fissura no chamado edifício teórico, em que o cientificismo julgou poder encontrar as leis secretas da natureza.Os comerciantes eram artesãos; a dominação se dava de forma política de uns sobre os outros, como hierarquias: depois a dominação deve estar predicada pelo capital, do trabalho após sua subsunção real e formal - pelo capital. A primeira agitação revolucionária neste sentido é a liga anti-corn laws. Toda a contribuição de Marx é aqui precisa, quer dizer, as configurações do mundo do trabalho.O trabalho - que gerava a plebe, na medida em que o seu “ser” constitui o seu
termo intermediário, e, então, as guildas, os artesãos, os trabalhadores por peça, os servos que vêm do campo como forasteiros, foragidos, e subsumidos em cidades divididas (os verein, as associações), é um conceito histórico que aparece como fundamento da práxis social, mas, na sociedade burguesa ocupa posição subordinada. Como se verá, o interesse sobre a teoria marxiana e sua força, deveria se tratar, hodiernamente, ainda que não tratasse apenas de uma análise teórica, senão, para onde acaba se encaminhando a crítica da economia política em “O capital”, ou seja, a esta pergunta: não estamos ante a uma afronta ao tema da pobreza como tema da modernidade? Que na Alemanha cabia perscrutar a filosofia e impor à crítica o seu termo final em Feuerbach - quando mais não fora porque tal intento era essencial para a consolidação do socialismo, por Marx e seu fiel escudeiro, viável por esta formação subdesenvolvida da Alemanha, era uma tremenda novidade, mas some-se a isto, quanto ao contexto francês, que sua contribuição (a de Marx, é verdade) rivaliza ante ao tema levantado (a saber, o da pobreza), no que diz respeito não somente a crítica ao capital, finalmente, sendo mister constatar quanto seu olhar infenso, indiferente à política social, uma outra constatação: a que vincula trabalho abstrato a equivalente geral no coração do corpus teórico de sua teoria do valor, a saber, o valor abstrato.Ora, a política social é feita num primeiro momento com uma nebulosa em meio a posições de defesa dos desafortunados e uma relação em que descende desta relação, depois, que, a sociedade feudal desagregada e a função de tais laços na França tradicional se defronta com uma miríade de bolsões de miséria, então, num segundo momento, a posição do capitalista e a formação de caixas de proteção social contra o desemprego, ou mesmo nas caixas de depósito que serviriam para os fins e pré-requisitos da ajuda aos velhos. Podendo agora - ser feita e impor-se mesmo, como uma resposta ou, através dela, qual seja, a de que a forma de a sociedade dever enfrentar o pauperismo, as suas causas e consequências, seria pela forma de que se valeu no início da industrialização, através “do” trabalho e “pelo” trabalho, Marx defende por certo com a tese da luta de classes o que aqui a forma salário, como relação posta, apenas toca no cerne de sua elaboração na dialética do valor. Disto, temos um exemplo a centralização: ocorre assim de forma a generalizar uma relação posta pelo capital uma proto-capitalista categorica, o que tanto leva a este se concentrar economicamente quanto geograficamente, e aqui se passa definitivamente a um novo estágio de reaproveitamento dos recursos materiais do mundo inteiro, acessíveis em quaisquer partes desde que remembrados pela finança global.Isto porque, segundo o que se vê, a esfera da valorização não apenas concentra o processo de acumulação de capital, como dá ocasião a este se tornar produtivo, que é quando mudializa-se as forças produtivas e as relações de produção, assim o que ocorreu, até o imediato após-guerra foi de tal modo avassalador que, mesmo aqueles autores supracitados, cuja relação ponente na sociedade de estados internacionais, por que configuram o mundo atual, a partir de noções realistas, devem hodiernamente ser ponderadas sob a fórmula de que estas se complexificaram, esquecem-se, portanto, ao contrário dos debatedores do mundo pós-histórico afirmam, que passaram isto sim por uma “prova de fogo”, de forma tão singular quanto a noção de classe social e estamentos republicano , a noção por ser estabelecida entre inovação e modernidade e o conteúdo da noção de cultura da inovação se faz a partir de do neo-funcionalismo sistêmico de Talcott-Parsons e de dependência de trajetória de Joseph Schumpeter, para tanto, valendo-me de autores que são oJoseph Schumpeter (1883 -1950) David Harvey (1935-) Agnes Heller (1929-) Zygmunt Bauman (1925-2017), portanto, busco historicizar as categorias de Habermas para a modernidade: assim propomos o estudo da cultura da inovação, no primeiro capítulo, principalmente a partir da obra de Schumpeter - A teoria do desenvolvimento econômico (1982), passando ao escopo da inovação na teoria da modernidade em David Harvey e na condição política pós-moderna, de Agnes Heller, tomando-se as suas obras – Condição Pós-moderna e A Condição Política Pós-Moderna. No terceiro capítulo, verificamos se a noção de cultura da inovação inscrita como cultura na Modernidade Líquida, adere ao conceito formulado por Zygmunt Bauman nesta sua obra, diante do que nos colocamos a pergunta, teríamos todos nos transformados em meros prestadores de serviço ao capital, ou a obra de seu epígono e último iluminista, a saber, Karl Marx, já não adequa-se ao metro-critico em apenso a este período que é proposto pelo velho Marx adequando-se ao tema da teoria dos sistemas segundo a influência de Parsons?
Palavras-chave: Modernidade. Cultura da Inovação. Política de Ciência e Tecnologia (C&T). Pró-Desenvolvimento.
ABSTRACT
FERREIRA, Thales Viana, M.Sc., University Old Village – ES, jul. 2014. Innovation and modernity: an essay in critical interpretation. Advisor: Márcio Carneiro dos Reis.
In the actual stage of modernity to prommote the innovation and the culture that is subsumed to it, appears to happen with any distinction: Culture is one word that is stribed in the past of the socyeties. The themes wich are properly related to modernity are multiplied: Innovation, culture, development, State Intervention, relation between the public sphere and the private sphere, Science and technology, cultural diversity, democracy, freedom, among others; While it happens, the new phase of modernity: diferentiate the idea of State and the notion of territory; these make the ressurgence of: new territorializations; the question related to the new territorialization in the territory; and the question of the adherence – or not – between the culture of innovation that is intendend to prommote and the cultural diversity manifested in the new territorializations that is emergent. The core aim of this research is given by the objective of the work as put it next: to verify what is the place of the culture of innovation, inquyring the importance of the culture of innovation in the contexte of modernity. Also, to understand in the form of this type of contrast between the culture of innovation in the actual modernity and the cultural diversity that is pointed at the center of the territorialization bringued by the economical transformations of the capitalist system. We propose that these objectives are going to be enhanced by the study of those four authors that could be taking in the work of each one the relation between the modernity notion of society and what innovation is at this contexto, as well the content of the culture of innovation. The authors considered are: Joseph Schumpeter (1883-1950); David Harvey (1935-); Agnes Heller (1929) and Zygmunt Bauman (1925-2017)This work evolves in three chapters in which is intended to study the culture of innovation, in the first
chapter, in terms of the work made by Joseph Schumpeter, The Theory of Capitalist Development, as we pass by it, to the scope of those concepts of innovation in the theory of modernity by David Harvey, and in the political Theory of Agnes Heller, taking theirs Works. In the third chapter, we treat to verify if the conceptualization of the culture of innovation, that is inscripted as culture in the contemporaneity is due to the concept of Liquidity Modernity, such as it is formulated by Zygmunt Bauman, when we formulate the question that: Do we all have to become merely serviced to the capital, or the world doesn’t evolve like treated by the last auffklaurer that is Marx from the foresee influencer in Das Kapital and furthermore for the theory of systems by Talcott-Parsons.
Keywords: Modernity. Culture of Innovation. Policy and S & T. Pro-Development.
I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS À PROPÓSITO DE INTRODUÇÃO – A
TEORIA SOCIAL HOJE: HABERMAS, PARSONS, SCHUMPETER e CELSO FURTADO.
Este artigo fora inicialmente publicadoPOLÍTICA-CARTACAPITAL.
Se a modernidade, pelo menos desde o discurso filosófico da modernidade e em Teoria da ação comunicativa, em que, à diferença do último livro, neste,Jurgen Habermas,concebeEstado Social e Estado democrático de direito traduzem o “pathos”, dentro da vida num Estado draconiano (Estado mínimo ou Estado policial) – Habermas, 2010; PP: 966), como é o caso na era da globalização do capital, algo ainda deveria ser estabelecido sobre o termo de economiasperiféricas, aisto,aoqueasteoriasdafilosofiada ciência, somenos consideradas pós-kantianas, denominandosepor uma estrutura de paradigma,proposta por Thomas Kuhn (2011) em sua obra Estrutura das Revoluções Cientificas, em que a crise na explicação teórica ou baixa capacidade de explicação de uma ciência (chamada de ciência normal), acaba dando passagem a uma transição paradigmática; que o discursocepalinoapresentava-se, basicamente, por ser uma explicação sobre a desigualdade internacional, e não um discurso sobre o desenvolvimento interno de nações específicas, como sendo a mais adequada fórmula para enfrentar o subdesenvolvimento,Com isto em mente, pode-se notar, somente reabilitando o conceito de valor objetivo e aos nexos inter-subjetivos da tarefado desenvolvimento, pela óticaestado-cêntrica, desde que à condição de valorar alguns questionamentos,pelomenos,dosociólogo,doeconomistaedope nsador,como Habermas pretende em relação a Karl Marx, em que cumpria notar, que, segundo Habermas, provisionado pela noção de trabalho que estava predicado pela liberdade econômica e a liberdade nas relações de trabalho entre o patrão, ao notar que tal tese passa a determinar uma heurística, a qual não permite a autocrítica que levara ao entendimento do Estado-Desenvolvimentista, buscando realizar o revisionismo, pode-se entender, como o fez MárioDuayer, numa tentativa de Interpretação Crítica, enquanto, referindo-se à concepção embutida no discurso social que se legitima, ao fazer da relação suposta na troca
invariavelmente, uma constante está diretamente vinculada as noções entre progresso material lado a lado no ciclo econômico, emergindo o indivíduo-social, verificou-se, mais quepara os empresários, quando todo o panorama histórico se pode desvelar, pela razão propriamente de autores da teoria social contemporâneacomo a perspectiva teórica de Karl Marx.Esteracionalismo, certamente por si mesmo, providencia da gênese de uma perspectiva que se quer teóricaemseustermosseminais,ouqueatesteporserdeum valor inestimável por sua prevalência no momento em que as ideologias carreavam a partir dela uma riquezadoutrinaria, se assim podemosdizer sobreo estudioso que se consciencializa do seu objeto de estudo, poderia ainda assim retroagir ate uma forma de pensamento irredutível, que, portanto, o precede, ate que esta realidade que o formara ainda não se objetivasse, ante à ocorrência de sua existência laboral formada pela realidade que se vê a-priori, neste mundo moderno, em que o providencialismo das grandes narrativas, acreditava lhe anteceder pelaposicionalidadedo sujeito, mas que se resolvepost-festum, isto é, apenas se deixa ver retrospectivamente.
Nesteponto,tomemos ocaso dadoutrina econômica: por ela, a nacionalidade vindicava o seu estatuto, por si mesmo, derivado do arco politico ao qual se poderia – ou não, a depender da seu caráter prestidigitador – conforme houvessem, pois, primorosamente sido estabelecidos, a partir de condições primeiras, as bases de uma disciplinapolíticodoutrinária. A esta providência, aquelasde que as grandes narrativas se formaram enquanto elementos teóricos queatribuiamao primarismo subjetivo, mas que, enquanto se fizera teoricamente,por sulcos e veiosteoricosde linhagem ideológica, em que, a teoria prenunciava a partir de sinalizações reais, tanto desde as forcas politicas, como a partir dos artifícios culturais ou artefatos sociais, ainda por seremrestaurados a partirda participação na democracia, expôs-se num artigo nesta revista no ano de 2017, na edição de Maio, por um autor prolixo que tratava do Brasil, como ele próprio dizia, de lugar nenhum. Uma teoria ali fora aventada,a qual se transformava em uma verdadeira depuração da arte, a partir do que se prometia ali naquela ocasião de sua escritura, o que este missivista notou como uma posição ideológica, como tal, quanto a isto, o Dr.Prebisch, que em uma outra ocasião se nominava oelaborador, doque o modelo econômico das federações
latino-americanaspretendiam,asquais, buscavamabarcar em seu caminho de construção da nacionalidade, uma enervação teórica semelhante ao que vemos no artigo da carta capital,aoinvésdeentendê-locomoumateorizaçãoabstrata, doutrinariamente, podemos encara-la como algo que, sea istocorrespondera mesmo noque oex-secretário geral da Comissão Econômica para América Latina e Caribe e, especificamente ai,anunciaria como um meio de inserção soberana,vemosneleum episódioemqueo mesmo, mesmoestandoexcêntrico no queDuayerabordava,a saber ademarchesobre a construção teórica em economia,obedeceu aoque,sob um mesmo influxo ideológico, parecera a Celso Furtado, no momento de sua aparição naquela altura, ao encontrar-se com Prebische Vargas em um mesmo ambiente, como atesta seu diário, tal qual estabelecido em diários intermitentes, em quevemos que já na época de Domingo Peron,a CEPAL, inseria-se no amplo quadro geral da época, destinada a enfrentar o atraso noterceiro-mundo,oqueinteressavaaoDr.Vargas. Prebischtencionava mesmo um tal Desiderato e ante a pergunta deste outro presidente, o brasileiro, já tendo sido ministro da economia e presidente do banco central argentino, retorquiua Vargas que, se a CEPAL se interessava pelo padrão monetário, pois o mesmo ocupava o centro da teorização mais robusta dosteoricoslatino-americano,diante de seu interesse, quando mais não fora porque a tese central do modelo centro-periferia, tratava da questão externa pelo problema do equilíbrio do balanço de pagamentos, e mais, sabendo que as economias latino-americanas estavam interligadas, o problema relativo ao cambio se lhe afigurava sob um mesmo ponto de vista de Getulio Vargas, como algo em que ostaffda instituição, ao vinculá-lo ao estudo da modernização, por assim dizer, fizera, sob uma mesma raizrizomatica, adentrar tanto Furtado ePrebisch, como Getulio Vargas, após a recente criação da CEPAL pelaOrganizacaodas Nações Unidas em 1948, como uma entidade fundamentalmente caracterizada pelo combate ao atraso da periferia, assim, portanto, duplamente, como atestadoneste texto,em que Furtado detinha-se paraalem do que representava a Furtado, em agosto de 1951, como uma resposta dePrebischao presidente brasileiro,senãocomo algo que já deixava transparecer como umaquestãoquedeveriaserentendidacomocentral,oquea
economiareduzia a uma questão de pressupostos abstratos numavisãodemundoa-histórica.
Tanto e assim, que a exasperação de uma forânearationaleservil,se percebera,que se consumava, então, pelos desideratos, intentados, pois pela obracolonizatoria, até então quepouco secontestava, vale dizer,a teoriaricardianadas vantagens comparativas,estafora citado pelo manifesto de criação da CEPAL, no momento de suaelaboracao, com o texto dePrebisch, seminal, que viera a lume em 1948, como uma teorização deletéria e que confirmava-se por algo que se cristalizava pela denuncia de situações adversas em que, ao chegar ao fim,no Governo Brasileiro de Getulio Vargas de 1948a1954,comoumaquestãoquesematratativacambial, quenãovieraasertratadaacontento.
Hoje em dia, Vargas e o trabalhismo são palavras que estão perto de atravessar um século. O que tem em comum com este ponto em que a concepção normativa de Duayer, que, a rigor, deixa-se ver como uma pena critica? Ora, em seu texto em Carta Capital,Duayere Medeiros buscavam aclararem sua exposição temática erudita uma tentativa contra o conservadorismo redivivo em reduzir a economia a uma noção doutrinaria de viés liberal. Mas, não seria Vargas o ocupante deste lugar a partir da época em que a CEPAL advogava a preconização da adoção de medidas populistas? O que não parecera gratuito aos missivistas arguir, mais que a noção em voga incólume pela queda do muro de Berlim, a de que o neoliberalismo vicejado teria feito água, ainda que o texto de ambos, ao final, criticasse osteoricosda economia porsuasabstraçõesredutivasparaorecortedoreal,jáagora, por oraporque o no-gordio do crescimento da periferia não se fizera romper, o texto não da a entender, não o de Furtado, mas o deDuayer,alem do substancial que foi alinhavado no artigo, ademais de quais os artífices de antanho, vinculavam ao capital externo, sobre a forma onipresente doglobalitarismo, mas parece ainda reter algo que, mesmo considerando-seos seus representantesteoricoscomoaquém doelementodemocrático,ousocialista,quesecorporificavam no debate de sua época, sem se perguntar se os mesmos, de fato, tendo corporificado a necessidade da superação destas agruras do subdesenvolvimento,ainda, hoje, representariam a mesma direção enquanto os mais aptos a ocuparem o governo central em que fossem encabeçar o governo central. Com efeito, tendo sido identificados centros de onde emanam
decisões, isto quando refazem-se os planos dos membros desta economia, o esforço é coordenar no plano do regime (Estado-comercial, ou Estadoempresário), o que esta política em comunidade envolve através da livreiniciativa que rege a atividade mercantil, bem como a livre-contratação e a livre-circulação numa ocasião em que as atividades-meio (por oposição ao finalismo da prática jcontemplativa e das formas de cultura, filosofia e política), permite como que, ao restringir o problema econômico da atividademeio ao caráter das atividades de reflexo do sistema econômico, traz à tona o sistema nacional de inovação a partir de seu caráter de desenvolvimento quando este não se dá mais por obra do Estado. No mesmo sentido, a segunda ordem de coisas representada pelas consequências de uma posição do agente capaz de alterar a própria realidade, permite construir uma noção qualitativa. Segundo Furtado:
“A ruptura no plano da racionalidade ocorre quando o agente está capacitado para modificar o meio em que atua, apresentando no seu comportamento um fator volitivo criador de contexto”(FURTADO, 2008).
A criatividade dispõe do poder, quer dizer, que, estando nela implícita, ou existindo por meio da criatividade, o poder que aflora, e tende a opor-se ao comportamento meramente adaptativo, e, como vimos, eleva o agente à posição de elemento motor do sistema econômico. A inovação por seu turno, deve permitir, por outro lado, como centro de racionalidade social que era o Estado, e como resultado macrossocial de tendências sistêmicas sob a função vetorial de agentes globais, faz com que a administração dos preços condicione os hábitos, e, até mesmo, modifique os mercados mediante o crédito.
sob a forma de um pequeno excerto em filosofia do direito: naquela ocasião, propositiva, ou intencional, procurava vindicar que a tese de que se descende -, desde que, por demonstrar-se, que, sua percepção advêm da primazia (ou da divisão entre os civis perante o governo eleito - representante ou não) -, na medida em que tem como antagonista, dado que têm o condão de alterar no processo político, a própria percepção do governante, daquilo que, entre nós, por detrás da ótica, ou do lócus em sua ótica sistêmica, que lhe pretende suplantar, se estribava desde Marx, sob uma forma republicana. Se, pela força de sua metodologia indutiva moderna, como ante-sala do século XX, heuristicamente, traduz-se pelo historicismo, fato é que seu primado, ainda que tal tese passe a determinar o que podemos entender, não como o fim do mundo moderno, mas a forma como se deram modernizações em todos os quadrantes, fica em aberto sua vertente nacionalista.
Sob o vórtice destas distintas vértebras constitucionais, aqui, meu objetivo seria totalmente outro: se, ante o fato de se colocarem em questão não apenas o Estado-Nação provocado por um contexto de abalo no mundo do concerto europeu, que, entende-se, como Hobsbawn (2008), caiu por terra com as guerras do século XX, mas algo que, de fato, não permite a autocrítica que levara ao entendimento do Estado, como arena em que se concentram estas dicotomias, aliás, visões díspares da sociedade se contrapõem antagonicamente desde os cismas do epicurismo ante a concepção areopagita de um Xenofonte, na ocasião deste que seria o exemplo mais óbvio e de pendor literário ao caso mais permissivo deste enfoque comparativo ao longo de distintas fases da modernidade, visualizar a teoria da modernidade que eleva a contemporaneidade ao problema da sua superação em teses disruptivas, uma delas, a do nacionalismo, buscando limitar o seu escopo na teoria da modernidade a ambos vinculadas, mas, em todo caso distintas.
Ora, os conceitos teóricos em mais de um veio histórico recobra seu valor e as teorias refazem-se numa dimensão claramente sobre a condição humana, unico entendimento cabível na linha tão conhecida de “origens”desde a sua contribuição magistral em A condição humana, por meio de uma ótica fundamentada para os direitos humanos, evidentemente de cunho acadêmico segundo a mesma fonte grega e alemã em sua nítida familiaridade canônica para o tema da democracia ateniense e que não era estranha a Marx, já que destriba sua teoria do valor com a superação da escravidão e a forma de valor, algo que segundo ele Aristóteles esteve pouco envolvido. Afinal, na medida em que pensa expor autores tão variados sob a vertente do marxismo dialético, quando o próprio Weber escreveu textos importantes sob a ótica da influência marcante do manifesto comunista de 1848, fica claro a dimensão da demo-eudhosia (regime da inquietação), que, Schumpeter talvez tenha herdado da Verstehen Weberiana que serviria de mote a teóricos políticos como Bernard Manin para tratar do empenho de uma aquinhoada opinião pública.
Porém, para Hobsbawn, ao questionar-se, como pensar a ideia de cultura da inovação para o conjunto das pessoas que estão excluídas, e de como a ação do capital pelos empresários judeus, e que está por detrás de uma importante questão que esteve implícita na formação do capitalismo por todo o seu "caminho", numa história iniciada pela Revolução Gloriosa, em 1689, culminando na solução final do período do entreguerras, pode ser pesquisado pelos aspectos formativos, de suas sociedades modernizadas sob o vórtice desta industrialização.
O Estado, que, para Habermas, provisionado pela noção de trabalho que estava predicado pela liberdade econômica e a liberdade nas relações de trabalho entre o patrão, ao notar que tal tese passa a determinar uma heurística, a qual não permite a autocrítica que levara ao entendimento do Estado nos países subdesenvolvidos, buscando realizar o revisionismo, pode-se entender, como o intento de visualizar, enquanto, referindo-se à concepção embutida no discurso social que se legitima, ao fazer da relação suposta na troca invariavelmente, uma constante está diretamente vinculada as noções entre progresso material lado a lado no ciclo econômico, emergindo o indivíduo-social, verificar, exatamente, que: para os empresários todo o panorama histórico se pode desvelar, pela razão propriamente de autores da teoria social contemporânea, pelo que, a CEPAL igualmente realizara com sua proposta de pensar o mundo global a partir do modelo centro-periferia.
O ponto de partida no que diz respeito ao estudo em tela, é notar que deve estar claro quando se fala de cultura da inovação, propriamente, a que está sendo referido exatamente. Na pesquisa sobejamente conhecida da Sociologia e da teoria política, mas com acréscimos substanciais dos economistas clássicos e neoclássico, em que o indivíduo, que para nós constitui-se no centro da argumentação, tendo sido estudado pela Sociologia (mas também pela Economia), leva então, ao estudo da sociedade politicamente e mundialmente organizada, segundo princípios republicanos e configurada a partir de uma noção de história aberta, indica, por exemplo, problemas com esta entelequia a que se recorre incluso o marxismo, ainda que o próprio Marx não o fizera.
Isto não é tudo. Se, por estes mesmos teóricos que procuraram entender a relação entre a inovação e a modernidade, alguns problemas, demonstram, pois, na ocasião em que Schumpeter escreve em 1909 seu teoria do desenvolvimento econômico, que seria por fim, entendido como um texto que não trazia à tona questões que, tais como estão atualmente vinculadas ao tipo de experiência social de uma vida socialmente fraca, permitiria, assim, para entendimento da questão destes períodos propostos nos marcos teóricos ante a temática do desenvolvimento, se a noção (sic) de uma “cultura da inovação”, poderia historicamente lançar luz até a hipótese desta cultura da inovação aderir às manifestações culturais no território, o Marx de O Capital antes de lidar com o exclusivo comercial aquando da monopolização inglesa do comércio, tal qual o patrono da economia brasileira estabelecera (FURTADO, C. 2007), portanto, antes de sua hipótese central a partir do mundo fantasmagórico da mercadoria, busca na dialética do
valor, se esta noção se vincula com base em anotações perturbadoras da teoria social: desde Schumpeter, como vimos, que postula o fato do mundo do capital, esfera social burguesa que carreará recursos em grande monta para a segunda opção, trazendo novamente à cena um tipo de capitalismo totalmente diferente daquele que Schumpeter divisava, aprofundando uma relação por si só problemática, gera o que considero uma metáfora elegante para o capitalismo desde então pelo termo “destruição criativa”. Não é isto que as próprias pessoas buscam realizar por si mesmas? Porém, o que pensar dos empreendimentos, que fazem da inovação o paradigma central - pois, a inovação é o que nomeia todas estas estratégias -, então, necessariamente, ter-se-á, como resultado da produção orientada para o mercado, por exemplo, uma mesma sociabilidade? Esta tese seria ainda notada com algum grau de discussão na teoria contemporânea (BAUMAN: 2001; HARVEY: 1992; Heller, FEHER: 1998; e SCHUMPETER: 1982).
O historicismo, por causa das relações políticas se desdobrarem em uma contemporaneidade em que as classes sociais, por meio de crises de legitimidade dos governos recém-eleitos, acabam tendo como final – provocado por um antagonismo que altera o processo político, mais uma vez como vemos, e, alterando a própria percepção do governante a respeito da possibilidade de seu governo dar certo, ora redundando em intervenções militares, ora colocando um fim, nas ilusões do povo, dá forma de maneira cabal, por categorias que restavam ossificadas segundo a noção de Hobsbawn, mas como se fosse entendido como o fim do liberalismo, que, para alguns, principalmente os dos partidos radicalizados, no momento em que o nacional, que, no caso alemão era o volk, mas permanecia fora da esfera do cientista social e do filósofo, tornando-se então, pelo nacionalismo - cujo leitmotiv era a guerra -, levando a solução final (o assassínio de Rosa Luxemburgo em 1923, em nome do Estado) deixando claro, que mesmo Schumpeter, sobre este período tenebroso do século XX, oferece a tal intepretação contemporânea da crise política, igualando autores que, sendo contemporâneos porque estruturalmente inovaram em termos científicos, assim o fizeram não por serem empregados os mesmos elementos conceituais, mas denotando, no tocante a filosofia, uma compreensão estilhaçada de tais atores, sendo menos que meros divulgadores, senão que, formaram-se solidamente sob a pedra fundante desta época, tendo como horizonte, o nacionalismo e o iluminismo, e mais detratores de regimes que albergavam teses antípodas, ao velho mundo, afinal o que tais teses explicavam a respeito disto a que se transformou a democracia de partidos, para os quais, não se representa o Estado como algo em crise, mas próprio da lógica instalada no poder do Estado? Segundo o
tertium datur desta rara enunciação, de cunho Frankfurtiano; entende-se a crise atual?
Por que, a esfera de vida da sociedade (burguerliche-gesellschaft), a saber, no qual estão autores que, como Adam Smith, Condorcet, Frederic Bastiat e Diderot, tratavam do tema do iluminismo, mas restando apensá-lo ao círculo de ferro do desenvolvimento, sabemos que o problema que restava ser entendido era dado na esteira do industrialismo moderno, pela forma de aparecimento da inovação, como capital. Em segundo lugar, com o objetivo de entender, ou determinar no âmbito do sistema nacional de economia que se formava no século XVIII, o que apontamos nas considerações iniciais desta introdução, se não estávamos propriamente em terreno propriamente do método em economia política, mas no seio do que Marx denominava processo de produção: nada há que acrescentar que isto a que Habermas atesta como um projeto da modernidade desde o iluminismo, transparece não apenas no discurso filosófico da modernidade, bem como está presente nas suas preleções em Max Planck discorridas na obra La Teoria De Lá
Acción Comunicativa, onde nosso autor elabora com base no volume 1 do velho Marx, tão somente no âmbito do que o pensador alemão primorosamente colocara sob o vórtice do materialismo dialético, pelo que Habermas conceitua como imagem de mundo, evidentemente, tendo em mente a descrição do processo produtivo do valor. Se, no primeiro tópico, que gerou uma segunda fornada jurídica, em que, à diferença da última, gerada na esteira da emergência das revoluções modernas e da emergência da carta dos direitos do homem, sem mais o que determinar, senão que, Estado Social e Estado democrático de direito traduziriam-se no pathos dentro da vida num Estado draconiano (Estado mínimo ou Estado policial) – Habermas, 2010: 966), de amplas consequências para as normas sociais de regulação dos direitos políticos, fator disruptivo, não é tanto óbvio, senão no caso da era da globalização do capital, que algo deveria ser coordenado, na arena internacional, sobre quê condições se avizinham para os atores sociais, se, desde o conceito de Schumpeter de Estado comercial, e o que Habermas entende por novas perspectivas para a Europa, assunto que nos voltamos ante ao tema das visões de mundo em políticas de Ciência e Tecnologia, como resultado das transformações do capitalismo contemporâneo, que levam ao aprofundamento desta relação problemática entre indivíduo e esfera social, ou mandato representativo e dentro dos princípios traçados tanto ontem como hoje, ante aos horizontes novos visualizados pela globalização, e anteriormente, pelo mundo industrial e seu discurso atinente a economia nacional, afiançaram, a livre-iniciativa, a livre-contratação de trabalhadores no mercado de trabalho, a livre circulação, ao Welfare, como resultado, da pergunta
inicial, então, sobre os direitos sociais no mundo do capitalismo vemos que Habermas quer nos fazer crer que há uma confusão aqui entre Entwicklung, ou, economia emergente (o que na ocasião referia-se a Alemanha) e Entkopplung (desacoplamento que marca o processo de colonização do muno-da-vida pelo Sistema), processo este que está caracterizado como a mesma antítese acima elencada em níveis entre indivíduo e ser-social, mandato representativo e democracia operária e, enfim, como anotado por Habermas, entre sistema e mundo da vida, o que pode ser notado em autores da teoria social contemporânea.
O fato de que como o mundo passasse no último quartil do século XX por uma reestruturação do poder norte-americano, que deixa sua condição de país hegemônico no padrão de um poder consorciado, para uma governança convém entender no caso do Brasil - para os diplomatas que receberam textos importantes da heterodoxia, como a independência era uma questão central que, para se tornar realidade, ou seja, para que os atores nacionalistas nas regiões periféricas lograssem incorporar o tema do desenvolvimento em seus países, copiando as tendências encetadas pelos nacionalismos na América Latina, e que, desde há algum tempo atrás, provara ser eficaz para retirar contingentes enormes de seu inominável atraso, seria necessário, pois, que a independência política tivesse sido alcançada previamente. Como se deu a independência enquanto obra nos marcos históricos, senão entende-la a partir das cartas de independência?
Igualmente, torna-se lícito perguntar em que sentido ambas passavam a ser vistas a partir do princípio de que um o Estado-Nacao, não pode modernizar-se sem fazer a modernização de seu próprio povo, pois, se o papel de uma hegemonia benevolente dos Estados Unidos da América fora de fato a mola mestra do desenvolvimento no após- guerra, focando a atenção aos documentos, ou melhor, à origem dos documentos que jazem na enervação dos movimentos de libertação, para que, por outro lado, por meio destas cartas de independência, ou simplesmente, no reconhecimento destas declarações que correram o mundo desde 1776 (o marco zero das revoluções políticas modernas para libertação nacional), chegue-se a considerar o papel do Brasil na sociedade de estados contemporânea – para entender o que se deu, e afinal, definir qual foi o papel não do liberalismo, mas a partir de pretenso movimento político periférico(ARMITAGE, 2011); isto é, como se o capitalismo aumentaria o exíguo e conspícuo condomínio do poder mundial, ou em gerando renda para a
população de trabalhadores, neste caso, e não como noutro, primeiramente conforme paulatinamente mais frentes de trabalho viessem sendo abertas no terceiro-mundo, para a construção de estados populares em sintonia com o socialismo soviético, se tudo isto se adequava a uma visão de duas Américas, a saber, uma de cariz liberal e outra com pendências ao integracionismo, como era a tese de José Martí, não há que se duvidar, pois se isto está claro, ou seja, que, num caso, exatamente porque as teses do mundo bipolar sufragaram a democracia se o seu princípio irradiador, como demonstrado pelas posições desenvolvimentistas, as quais eram realistas, então, noutro caso seria forçoso reconhecer que tais posições um dia se extenuariam, afinal, da mesma forma que nos voltamos ao centro avançado, para o estudo deste capitalismo oligopólico, o que estamos dizendo, pois, sobre a política de superação da pobreza na exponencial dos diplomatas desenvolvimentistas, depende de uma visão histórico-estrutural de sua evolução no quadro geral da atual fase do capitalismo, segundo a influência de Parsons.
II – OBJETIVOS.
A noção fulcral que defendo, neste artigo, inicialmente, demonstra-se pela tese de que qualquer personagem da vida moderna encontra eco dentro deste quadro analítico, neste framework, desde que na obra de Habermas, A teoria da ação comunicativa, se insere, determinantemente aprofundando a esfera da bildung, dissecando ao sabor da modernidade Marx consagrará como Welltaschnnung, a orientação mítica que permitira com que, aos quadros de desenvolvimento mental a partir da imagem social do mundo da vida, a luta de classes permitisse que em Estados Democráticos, houvessem nexos entre o sentido da racionalidade e os objetivos externos do sujeito, afora uma destruição do valor humanista do fato social, que ao contrário, indicara que o welfare, padecendo, pois, ante a esta razão econômica que a tudo permeia, de regras lógicas procedimentais para a facticidade e validade do direito, levara a implosão do edifício moderno do capital; neste ponto, Habermas ancora sua noção que na esfera jurídica, que, como vimos com a dimensão que parece se avizinhar com a crise dos paradigmas, um critério independente da razão para avaliar o desenvolvimento daquele mundo do capital na contemporaneidade, no qual Habermas passara a determinar desde antes da evolução dos atributos jurídicos e morais que os levariam a incapacidade de que a aprendizagem, por exemplo, dos acontecimentos históricos seja descrita estruturalmente (Habermas, 2010. PP 698), teria nos trazido até aqui, ou seja, neste período que é para o terceiro- mundo o mais decisivo em ponto diante de si, a que recorrem filósofos morais, para discorrer sobre assuntos que lhes
escapa a própria definição de natureza humana: no entanto, pela noção de razão comunicativa, quando dela se destitui a discussão do contexto de valores culturais em sua vertente jurídica, tal como as diversas jornadas jurídicas permitiram represar normas através da discussão de validez, (HABERMAS, J: 2010. PP 110), afinal, por quê tudo isto não implicaria numa ruptura radical com o tradicionalismo da tradição jurídica e seu rito, pergunta que deveria estar sempre na mente dos pesquisadores da “politikwirtschafften.”
Quanto a isto, basta notar que as teorias da filosofia da ciência, somenos consideradas pós-kantianas, comungam com uma estrutura de paradigma, proposta por Thomas Kuhn (2011) em sua obra Estrutura das Revoluções Cientificas, em que a crise na explicação teórica ou baixa capacidade de explicação de uma ciência (chamada de ciência normal), acaba dando passagem a uma transição paradigmática; que o discurso cepalino apresentava-se, basicamente, por ser uma explicação sobre a desigualdade internacional, e não um discurso sobre o desenvolvimento interno de nações específicas, como sendo a mais adequada fórmula para enfrentar o subdesenvolvimento, fica evidente que assim o faziam por representarem as economias como viáveis, e não tanto pela formação de uma lógica política do chamado terceiro mundo como economias reflexas, que respondiam aos movimentos cíclicos dos países ricos, e de certa forma absorveram progressivamente; o problema é que, esta idéia de conceber a economia mundial como um sistema estruturado, no qual o processo de difusão do progresso técnico e distribuição do excedente econômico seguiam determinadas tendências e o que era o que determinava a longa vida da CEPAL (FURTADO, 2007), hodiernamente, ao lado destas figuras-chave da história brasileira, devem ceder lugar à atuação proeminente de uma diplomacia independentista e que fizera, do Itamaraty, um lócus de pensamento rival ao predomínio da concepção de fazer do processo de decisão em matéria de política externa, algo que pudesse num contexto de permissibilidade do contexto internacional, levaria a que, com a substituição das fronteiras separação pelas fronteiras cooperação, presumivelmente viesse de fato pelo sistema da economia nacional, promover a inovação ou a cultura que lhe é subjacente (cultura da inovação) parecendo ter tornado algo natural o que indistintamente permite apontar como “Cultura”, algo sendo uma palavra que nos remete ao passado das sociedades. As temáticas próprias à modernidade se multiplicam, tais como: Inovação, cultura, desenvolvimento, intervenção estatal, relação entre público e privado, ciência e tecnologia, diversidade cultural, democracia, liberdade, dentre outros; ao mesmo tempo
essas temáticas mantém uma ligação fecunda com o novo, e, por extensão com o ato de inovar; matéria de PEB, como que subserviente aos EUA, como se a modernidade ocidental fosse aquela predominantemente cindida pelas diferenças econômicas advindas da escravidão.
Portanto, as teorias surgidas nos termos do modelo centro-periferia passaram a questionar a inexorabilidade deste “vir-a-ser” moderno, com o que seguiram a uma historiografia econômica centrada, ao contrário, já que uma nova configuração teórica que aplicava a base de dados da história, incluindo o regionalismo, para entender a industrialização, por fatores internos da dinâmica econômica, como a tese do “capitalismo tardio” de João Manuel Cardoso de Mello, contestando a ótica do “nacional- desenvolvimentismo”, quando estas teorias que dialogavam com a CEPAL incitassem a encarar a industrialização segundo uma periodização nova, ou contestassem o seu otimismo, representaram um ponto de ruptura, no seio do pensamento latino-americano.
O que não estava tão claro ainda nos dias que correm, numa visão Shumpeteriana, que envolve as indústrias num programa de investimentos em que a adoção de inovações gera recursos, já é outro o problema quando isto ocorre a partir do momento em que existe a cumulatividade: a fronteira tecnológica se torna uma função de sua distância com relação à indústria automobilística, a indústria aeroespacial, as telecomunicações e a indústria hidrotérmica, e os novos recursos abrem caminho à produção em série e até mesmo a busca por novos mercados que possam ter valor agregado.Com efeito, a globalização ultrapassa a reserva de mão-de-obra, a disciplinarização na fábrica, mas, já agora posta a funcionar em produções especializadas e fragmentadas e nem tão somente a globalização do capital trans- fronteiras, o capitalismo na globalização é experimentado como o fim da política, ou a busca dela.
Busco entender neste contexto, nos seus momentos mais percucientes, a mundialização econômica, sob a forma em rede de um paradigma que estabelece sua cadeia tecnológica com a especialização da infra-estrutura, mão-de-obra qualificada em economias de externalidade, com os insumos informacionais e o baixo custo das tecnologias fixas, sendo, pois, o legado da ciência, o próprio motor do progresso, mesmo estando numa primeira fase da modernidade, a razão pela qual, esta centralização ocorre tanto quanto se concentra economicamente (segundo o termo de Marx para intensificação da acumulação, leia-se, geograficamente, e aqui se passa definitivamente a um novo estágio de reaproveitamento dos recursos materiais do
mundo inteiro, acessíveis em quaisquer partes desde que remembrados pela finança global), pari-passu, segundo o que se vê, a esfera da valorização não apenas concentra o processo de acumulação de capital, como dá ocasião a este se tornar produtivo, que é quando mundializa-se as forças produtivas e as relações de produção, decorrendo daí, pensando na influência ideológica da CEPAL, mas não apenas o nosso país, que têm em sua história recente o crescimento, a maturidade, deste capitalismo, que a abertura num ramo industrial dado pela concorrência entre as montadoras de veículos automotores, como caso exemplar de crescimento, envolvimento, e liderança por causa de muitas vidas entrelaçadas, em que apenas algumas empresas podem alcançar o cume, têm o condão de ilustrar a noção de "cultura da inovação" implícita no conceito de inovação proposto por J. Schumpeter, chegando a uma segunda fase da modernidade, na qual, pretendia fazer uma relação entre coisas bastante importantes teoricamente, que são: a "cultura da inovação" e a "modernidade líquida", gerando notas de pesquisa sobre o caso das políticas de ciência e tecnologia, aprofundando a relação capital-trabalho, desta feita, de forma problemática, pela noção de novas perspectivas para a visão de mundo com base na sociologia do desenvolvimento.
III– METODOLOGIA.
Walter Benjamin (1892-1940), com base na análise da literatura sobre inovação e sua relação com as políticas de ciência e tecnologia, escapa aos ditames do dialeticismos e mesmo na ante-sala das transformações do desenvolvimento tecnológico, insere o tema do desvelamento dos nexos advindos da modernidade, caminho semelhante ao trilhado por Celso Furtado no tema da cultura e das políticas de ciência e tecnologia, conquanto dando ênfase às politicas de ciência e tecnologia voltadas para a promoção da inovação, pode-se mesmo empreender estas pesquisas com o arcabouço teórico da inovação e seus desdobramentos político- institucionais desde em que tais categorias se tornaram um importante elemento da própria construção da modernidade, dentre elas, a de individualismo e esfera burguesa.
Quais as consequências disto? Sob esta ótica contemporânea, o conceito de inovação e a diversidade cultural se inserem no território. Qual a estratégia que esta nova fase da modernidade sugere quando se descolou não por obra da modernidade, mas das estruturas interpretativas do capital: se, a questão central e que confere rigor analítico ao problema da cultura do desenvolvimento, tratando-se dos móbeis simbólicos que articulam a questão das nossas relações externas aos dilemas do desenvolvimento da indústria. A questão central que o orienta está relacionada à análise
da noção de “cultura da inovação” e sua aderência às manifestações culturais que se verifica nos territórios. Para tanto, algumas questões podem ser formuladas. Entre elas: o que significa “inovação” e qual o conteúdo da noção de “cultura da inovação”? Qual a referência de território e de grupo social que acompanha a noção de “cultura da inovação”? O significado implícito à noção de inovação no contexto da cultura que se pretende promover coincide com o que os atores territorializados pensam acerca da ação de inovar? Com isto, trataremos da obra de outro marxista, vis-à-vis ao modelo centroperiferia e a crítica da modernização dos teóricos marxistas da dependência, que é Habermas: com este objetivo, a saber, a partir de sua obra mestra, talvez a maior resolução problemática do mundo em apenso ao termo iluminista no seu final, quando, ficará evidente que, tal qual compreender o significado da noção de “cultura da inovação”, em face do tema da diversidade cultural, equipara-se a analisar os fundamentos teóricos que subsidiam tais normas repensando-as globalmente, sob crítica cerrada da sociologia, afinal, na construção de uma matriz teórica de análise, portanto, passamos, então, ao ponto em que a teoria da inovação é requerida, em meio a uma tradição de apóstatas e hereges, profetas da modernidade e radicais modernistas, para estes, diferentemente da teoria do contrato-social, a teoria social e a economia política leva-nos pelo impulso de que temos aí, a não ser uma descrição, ou uma ciência positiva, colocando-nos diante de uma pergunta fundamental: como entender, sob o enfoque da teoria da modernidade a “cultura da inovação”, a partir dos autores marxistas caso denominassem de colonização do mundo da vida, numa nova matriz da racionalização, adentraríamos, notando-se bem, a tradição marxista, no mundo pósmetafísico?
Deste modo, em segundo lugar, entre nós, quando em 1961 a guerra-fria se inicia com a construção do Muro de Berlim, e a divisão entre leste e oeste, deturpando o liberalismo, numa ocasião em que - lembremos, por enquanto, que temos uma apreciação disto quando Marx escreve na Ideologia Alemã, que, para o capital, o sistema se faz, porque depende do lucro de seu negócio mesmo quando está às voltas com o comércio é o lucro do inovador (Marx, 2007: Pág 293) -, como decorrência, a tese construída no imediato histórico, de que afinal o que dissemos ser a noção basilar, a tese do Capitalismo de Estado, ao vindicar para o conceito de remessas de lucro, que instaurou entre nós, no Brasil um movimento pendular entre política nacionalista de um lado, que, vez por outra, em situação de liquidez no mercado internacional, deve levar a um novo ciclo de políticas liberalizantes, prestes a alterar os dados amainados da
conjuntura internacional, reinterpretando o problema do desenvolvimento sob a ótica de um republicanismo as avessas. Isto quer dizer que, se a tese de que exatamente porque coubera aos primeiros delegados da Conferência da Pensylvânnia, da qual faziam parte naquela ocasião (1775), políticos de envergadura, fizesse posteriormente dos Estados
Unidos da América, uma associação de cidadãos livremente associados, fizera com que uma mesma interpretação se equivalesse para os demais países sob o refluxo da descendência ou queda do poderio Inglês, no entanto, justamente porque a independência implicava na liberdade em estabelecer e aceder a vigência de acordos ou tratados que, no limite, impunham uma nova configuração mundial do poder disperso em uma soberania compartilhada.Como, então, entende-se que o fim da escravidão talvez fosse o maior evento, mas, entre nós, a principal vetorialização dos direitos humanos terá sido a sobrevida das teses cepalinas após o Brasil se tornar signatário da carta da ONU em 1977 e a anistia em 1979, sendo restaurado as expensas dos locatários do poder um sintagma de riscos para os policy-makers.Com efeito, identificados centros de onde emanam decisões - e isto, quando refazem-se os planos dos membros desta economia, periférica, porém soberana, o esforço é coordenar no plano do regime (Estado-comercial, ou Estado-empresário).
Para responder a este quadro epocal, desde os princípios traçados teoricamente, dentro do que a tradição da economia política tratou como direitos inalienáveis, atualmente, diante do aprofundamento do capitalismo, será que se poderia, ao constituírem-se aí as bases, sobre as novas perspectivas na Europa, ao que lhes faltando, considerando ainda o fator disruptivo da eleição de de Donald Trump, que, ao ocorrer nos EUA, aflitivamente passou a assolar o centro do debate que seriamente – e que levara ao questionamento da própria União Européia – fazer, com que a teoria de Habermas, ainda que tenha aparecido publicamente (certamente porque tudo isto ocorre posto que é assolado o projeto europeu no seio da modernidade), associando a mudanças do mundo que permeiam o debate público, responda em sintonia com os elementos fulcrais das crises da república na sociedade do risco? Afinal, para as pessoas e seus projetos de sociabilidade, retroagindo até a estrutura do projeto europeu iluminista findado, justamente, por causa da mudança de Estado do mundo, não teríamos atualmente a percepção ter crescido com a forma com que a opinião pública na totalidade das nações da Europa que se afetam com novos desafios em cada um dos países envolvidos em crescentes dilemas institucionais e ameaças vindas da terrível
transumância ali reinante, leva com que em cada um destes Estados, de maneira conjunta, elevem-se os riscos do projeto supra-nacional da Europa?
IV –EXCURSO SOBRE A AUTONOMIZAÇÃO DA MODERNIZAÇÃO CONTEMPORÂNEA.
Denomina Sen o seu enfoque como “desenvolvimento como liberdade” justamente porque em suas múltiplas facetas, a liberdade é tanto o meio como o fim do desenvolvimento, e de nossa parte, encaramos o problemas do desenvolvimento inicial dos EUA como uma razão histórica para revelar que esta síntese seja a forma mais robusta de se encarar o fato básico do desenvolvimento, a saber, a redução das privações (conducente à expansão das liberdades individuais). Antes de estabelecer a razão avaliatória deste fato e que leva o estudioso a concentrar-se nos fatos do desenvolvimento a partir de outro enfoque, precisamos estabelecer a concepção desta liberdade como que dotada de valor universal, pois, deste modo, passa-se ao problema que interessa ao estudioso da evolução das sociedades, onde coubera a si mesmo a determinação da razão da sua eficácia. Ora, estivéramos diante deste teórico no auge do neoliberalismo e mesmo em um terreno da formulação teórica que impõe um significado específico da razão da eficácia: a importância das transações, mercados, e privação de liberdade, sobretudo porque representou um fardo para milhões no “terceiro-mundo”, exatamente, porque seriam falhas constitutivas da liberdade econômica quando os países em que viviam sob o regime neocolonial, os coagiam a uma espécie de cativeiro (o trabalho remunerado em víveres nas próprias plantações de café, junto às chamadas “vendas”, como decorre da análise de Lafer - (Lafer, 1982; Lafer; 1993).
Daí que Amartya Sem defende a idéia de que o papel da liberdade neste ponto é maior do que o papel puro e simples da tradução em sua formulação política representativa. Mesmo o direito ao trabalho livre, por certo, tivesse ele próprio algum sentido alhures, ou mesmo aqui no Brasil por ocasião da luta contra a escravidão e a promoção de uma sociedade abolicionista, o fato que estamos nos esforçando por fazer convergir a análise é que realmente não representa qualquer petição de princípio, simplesmente porque, em se tratando do que o nosso autor estabelece como subdesenvolvimento, para a hercúlea tarefa do Estado de modernizar-se, Sen, denominando, por sua vez, como “trabalho adscritício” - tradução de “bound labor”,
indica ao contrário de Furtado (2012), a vigência desta categoria como o primeiro passo para a sua tradução em liberdade constitutiva, algo que está relacionado como um contexto de valorização das trocas econômicas para além de sua função derivativa. Ora, assim como no contexto do crescimento desigual, o instrumento retórico impõe a categoria desenvolvimento a uma força ou elã vital no mundo das trocas no contexto econômico vigente desde o concerto europeu, mas cujo esteio seria o próprio e difuso sentimento da cultura da inovação, esta não deveria se traduzir em emponderamento, e conseguintemente, em crescimento, quando, ao inverso ocorre a polarização? De outro lado, somente quando entendermos que ao argumentar que a batalha contra a privação de liberdade existente no trabalho adscritício é importante em muitos países do ‘terceiro-mundo’ hoje em dia por algumas das mesmas razões pela qual a guerra civil americana foi significativa” (Sen, 2011: pág 21), mas, não se aduziria daí, o que sabemos que não há muito sentido em ser genericamente contra os mercados, talvez nos dias de hoje, porque seria como ser contra a operação da lei da oferta e da demanda, destituindo o Estado de seu papel de universalizador dos direitos sociais desde Rawls (2011)?
Dentro dos princípios traçados teóricamente, abrem-se horizontes novos, a saber, desde a livre-iniciativa, a livre-contratação de trabalhadores no mercado de trabalho, a livre circulação, e que, a seu modo, acabaram, pois, em alguns casos, por silogisticamente, proceder através da existência de uma lacuna, fazendo de todo argumento da falta do Welfare, a distorção conceitual dentro de um mundo sem garantias de direitos inalienáveis, o que o autor marxista denomina de Entwicklung, ou colonização do mundo da vida, numa nova matriz da racionalização, adentrando a tradição marxista no mundo pós-metafísico (HABERMAS, 2010)
Por obra dela, o escritor de crítica social pode falar em princípio da nacionalidade, quando pressupunha-se o historicismo, como estivéramos a nos esforçar em demonstrar, junto dela, como apontado, a unidade de destino e a familiaridade, entrementes, com 1779, ou ainda, lado a lado ao princípio da nacionalidade, que vigora até pelo menos a ideologia Wilsoniana, uma noção conexa de soberania compartilhadaque, Lafer, denomina de existência de uma multiplicidade de estados soberanos, dado pelo mútuo reconhecimento da soberania e a distribuição assimétrica do poder entre as potências e as potências-médias, mas, determinantemente aprofundando a presença de
uma ordem econômica fundamentada na comunicação e num conjunto de normas inseridas como pano de fundo deste mundo, o que, ao nosso ver, decorre de Westphalia -hoje entendidas como constantes grocianas do direito internacional (Lafer,2004), ainda que a comunicação haja transplantado a noção categorial de inovação, referente aos grandes conglomerados como centros de poder, desta feita, na ótica moderna, como fatores sociais de inflência permissiva no meio internacional.
Notemos que a centralização do capital corresponde historicamente ao surto inicial de recuperação econômica desde que a centralização política e o princípio ótimo do nacionalismo funcionaram como elementos centrífugos. Ao aprofundar-se o tema da retórica em economia, vemos que, o Brasil, quanto à análise destes temas que ganham forma no momento mesmo em que franqueava-se o transporte marítimo, mas quando, não se proibia apenas o tráfico, o que, deveras relaciona-se às assimetrias entre o liberalismo que era defendido por adeptos do liberalismo legal e a realidade dificilmente constrangida por normas dada o imiscuir da tradição inglesa, respondemos a pergunta sobre como se plasma a hegemonia aqui tem relação direta com a tradição iberoamericana, pois, em dado momento o princípio regente da ordem internacional era, não apenas a pergunta quanto ao fato de o reenvio de escravos atender a pendências dada sua proibição, mas que, com o patrulhamento pela esquadra inglesa e a proibição do fluxo migratório ilegal, esta mercancia já não adequava-se à realidade da produção manufatureira. Portanto, que o imperialismo lidava com estas forças históricas de forma indepentente da corte, isto se remete ao mundo colonial; mais além, indica, por outro lado, sucessivamente a uma ordem mercantilista, uma nova importância para a tradição ibero-americana, que já agora deveria lidar com o exclusivo comercial aquando da monopolização inglesa do comércio, tal qual o patrono da economia brasileira estabelecera (Furtado 2012)
Se ante ao tema da modernização pode ser abordado quando se avalia a eficácia dela em metas alcançáveis. Quando se avalia a eficácia das políticas, deve-se complementar à questão das liberdades substantivas (já agora determinadas como liberdade política, liberdade econômica, segurança protetora, facilidades democráticas e garantias de transparência), um entendimento de que existem encadeamentos, segundo a velha terminologia de Albert Hirschmann, e que, segundo o enfoque seniano de desenvolvimento como liberdade, encara, a sua promoção, como aspectos específicos
do aumento das capacidades das pessoas e contribui unicamente para o desenvolvimento em sua forma instrumental, quando, então seria o caso de indagar porque já há algum tempo não se haja em estruturas, regimes políticos, nos discursos da mudança social, quando deste contexto, se esvai a noção de estrutura e o debate do crescimento desigual se estabelece, e ao contrário, isto não se dá mais num vazio ou déficit de governamentalidade, minha pergunta releva o problema da “cultura da inovação
Será porque, como notado por Hirschmann (1982) assim como Furtado (1998)sustentada por uma ótica periférica, o que de resto, em algumas décadas formou-se por meio de uma visão linear do desenvolvimento econômico brasileiro -, a CEPAL informara a diplomacia na tarefa de criar maneiras de superar uma tendência autárquica do primeiro governo Vargas, pois o Estado Nação promoveu durante algum tempo na sua visão de multilateralismo, um regionalismo fechado, mas hesitava em buscar saídas para a produção brasileira após o crescimento da indústria. No primeiro momento da chamada industrialização por etapas, o mantra era fazer com que jamais fosse perdido aquele otimismo com respeito à acumulação de capital no Brasil, e o Estado jogava o papel principal, mas como a questão das classes e da necessidade de reformas precisava ser tematizada, mesmo com a finalidade de propor políticas de crescimento, o fato de isto não ter ocorrido a contento, fizera como que a experiência de integração latinoamericana permanecesse limitada em seu escopo, entende-se, como Hobsbawn (2008), caiu por terra com as guerras do século XX, mas algo que, de fato, não permite a autocrítica que levara ao entendimento do Estado como elo deste ciclo de acumulação.
O fato de que como o mundo passa no último quartil do século XX por uma reestruturação do poder norte-americano, que deixa sua condição de país hegemônico no padrão de um poder consorciado, para uma governança convém entender no caso do Brasil - para os diplomatas que receberam textos importantes da heterodoxia, como a independência era uma questão central que, para se tornar realidade, ou seja, para que os atores nacionalistas nas regiões periféricas lograssem incorporar o tema do desenvolvimento em seus países, copiando as tendências encetadas pelos nacionalismos na América Latina, e que, desde há algum tempo atrás, provara ser eficaz para retirar contingentes enormes de seu inominável atraso, seria necessário, pois, que a independência política tivesse sido alcançada previamente. Como se deu a
independência enquanto obra nos marcos históricos, senão entende-la a partir das cartas de independência?
Para entender o que ocorreu dever-se-ia aclarar os termos desta noção, a qual, exata no caso de Joseph Schumpeter, que a ela recorre a partir do diálogo de qual a função do desenvolvimento, em que, se para Habermas, que quer nos fazer crer que há uma confusão aqui entre Entwicklung, ou, economia emergente (o que na ocasião referia-se a Alemanha) e Entkopplung (desacoplamento que marca o processo de colonização do mundo-da-vida pelo Sistema), processo este que está caracterizado como a mesma antítese acima elencada em níveis entre indivíduo e ser-social, mandato representativo e democracia operária e, enfim, como anotado por Habermas, entre sistema e mundo da vida, o que pode ser notado em autores da teoria social contemporânea, os quais se aproximam num mesmo diapasão sobre a supermodernidade, temos uma lacuna.
A lacuna a que nos referimos, tributária não menos que há uma distorção conceitual dentro de um mundo sem garantias de direitos inalienáveis, o que o autor marxista denomina de Entwicklung, mas que se prende ao Entkopplung colonização do mundo da vida, dos sistemas, leva-nos a uma pergunta sobre os direitos fundamentais imanentes a carta dos direitos humanos, a saber, se, daí em diante, têm o Estado no seu proceder teórico ao que se resume em erigir neste mundo do capitalismo, um suposto, qual seja, que as imagens de mundo têm por função epistolar a de orientar a função do ser-social, padece tal panorama geral de mecanismos de restituição do corpo social para personas deste tipo, principalmente por causa de não impedir a perseguição e a destruição do fator humano dos direitos sociais, a saber, a segurança protetora; inclusive, dos próprios representantes do mandato cultural. Ora, cumpre notar, que, segundo Adam Smith o trabalho estava predicado pela liberdade econômica e a liberdade nas relações de trabalho entre o patrão empresário (“entrepeneur”) e o operário, o que tanto fundava uma sociedade em que a liberdade estava na raiz do processo de produção da riqueza, e, portanto, na sua apropriação, como explicava a divisão social do trabalho como o fundamento da riqueza. Se, posteriormente a questão do socialismo tornou-se premente nas sociedades europeias terá sido porque os movimentos operários foram levados a contestar a distribuição da riqueza, mas fica em aberto o fato de terem posto em xeque a forma mercantil do trabalho [assim como Marx denominava a mercadoria] porque a explicação da riqueza das nações com base na
liberdade econômica ficara patente não apenas na disposição da força de trabalho moderna, do laboratório das sociedades industriais, o qual jamais foi derrubado, ao contrário, no após-guerra o discurso social-democrata incorpora de bom grado o socialismo jurídico presente no despertar da participação operária nos acordos entre o capital e o trabalho como notado por Hirschmann (1982), e o que aparecereis a Furtado (2007), que tal comportamento, sustentado por uma ótica periférica – que, em algumas décadas formou-se por meio de uma visão linear do desenvolvimento econômico brasileiro, que a tradição marxista, que informara este artigo, como se a diplomacia, que, na tarefa de criar maneiras de superar uma tendência autárquica do primeiro governo Vargas, pois o estado brasileiro promoveu durante algum tempo na sua visão de multilateralismo, um regionalismo fechado, mas hesitava em buscar saídas para a produção brasileira após o crescimento da indústria, não impedira, no primeiro momento da chamada industrialização por etapas, que o mantra de que jamais fosse perdido aquele otimismo com respeito à acumulação de capital no Brasil, encarando o Estado, mesmo por autores marxistas, como que jogando o papel principal, mas, como a questão das classes e da necessidade de reformas precisava ser tematizada, mesmo com a finalidade de propor políticas de crescimento, o fato de isto não ter ocorrido a contento, fizera como que a experiência de integração latino-americana permanecesse limitada em seu escopo não obstante, nos seus últimos contributos deste teórico, como em Capitalismo Global, aqui, por mim revisitada pela dualidade que pautara o método do tipo ideal – influência de Weber, e não dos Frankfurtianos.
Nos seus últimos trabalhos, para saber, ao contraste da noção de território e culturas territorializadas, que, indistintamente, se tornaram, com a independência, que implicava na liberdade em estabelecer e aceder a vigência de acordos, ou tratados que, no limite, impunham uma nova configuração do poder mundial, mas, na qual ainda não era o caso de países como o Brasil, que jamais questionavam a hegemonia, é possível, porque a partir de Habermas, ancorar sua noção que na esfera jurídica, que, como vimos conquanto, a dimensão que parece se avizinhar com a crise dos paradigmas, um critério independente da razão para avaliar o desenvolvimento daquele mundo do capital na contemporaneidade, no qual Habermas passara a determinar desde antes da evolução dos atributos jurídicos e morais que os levariam a incapacidade de que a aprendizagem, por exemplo, dos acontecimentos históricos seja descrita estruturalmente (Habermas, 2010. PP 698), teria nos trazido até aqui, ou seja, neste período que é para o terceiro-
mundo o mais decisivo em ponto diante de si, a que recorrem filósofos morais, para discorrer sobre assuntos que lhes escapa a própria definição de natureza humana, no entanto, pela noção de razão comunicativa, quando dela se destitui a discussão do contexto de valores culturais em sua vertente jurídica, como entender as diversas fornadas jurídicas, dos diplomatas, que permitiriam represar normas através da discussão de validez, pois, como se sabe, o mundo social permissivamente está afiançado por ações praxeológicas de meios sem discussão do que seja o valor superior?
Desde a noção primeira, sob o primado da análise de Marx em sua encíclica de Leipzig, que, os sociólogos, fundamentados nos marcos históricos - mais gerais sob o primado analítico da economia ou do espírito da modernidade, a bem da verdade, quando aqueles (marcos), se vinculavam ao projeto da modernidade desde a Auffklarung que a filosofia continental europeia valeu-se de autores como como Pareto, Durkheim, e, sobretudo Marx, que tinham preocupação semelhante, ou seja, entender como as instituições, instituições coletivas que influenciam as regras de que utilizam os indivíduos ao lançar mão da ação humana, influência de Kant, diga-se de passagem, agiam socialmente. Os direitos humanos foram terreno da política durante estas diversas modernizações políticas, e a partir daí, não tanto como mecanismos de decisão para a iniciativa privada, mas problema para a política entendida como agenciamento (à maneira de Karl Polanyi - como demonstrado em sua obra clássica sobre o fim do mundo liberalclássico e que é a “grande transformação”), para uma miríade de referências o primeiro problema ao se enfrentar um mundo aprisionado pela lógica sistêmica da modernidade, valendo-se de que o projeto do discurso filosófico da modernidade se findara, lançaram mão do argumento extremo: o de que edifício do pensador alemão, para os quais o mesmo era o herdeiro do pensamento determinista, mas que se esgotaria às voltas com as modernizações, teria os encaminhado ao rompimento com a modernidade, levando desde um caminho de moderação e contemplação das noções pós-metafísicas, em que tanto Marx, mesmo estando sob a veia da teoria republicana, ou seja, o Estado e suas formas de padronização ética, como os liberais, mais relativistas e segundo os marxistas, menos racionalistas, mas não menos idealistas para os hereges desta nova época que muitos já denomivam de sociedade líquida (BAUMAN, 2001).
V -CONCLUSAO.
Retomando as concepções, díspares é verdade, mas firmemente denegadas através de uma resoluta asseveração antiracionalista,
Afinal, se esta modernidade, ao reivindicar que estamos quanto a este ímpeto suspenso por um clímax anti-religioso, quando este está a indicar, pois, não mais o caminho a ser trilhado - afinal, a chave para que o mundo pós-moderno seja entendido não como o fim da verdade mas o fim da história ou o fim das ideologias, como a dominação da racionalidade econômica em todas as esferas da vida - isto indica fundamentalmente, ante ao tema do desenvolvimento da modernização, que, não por acaso, o projeto moderno, que defendia uma cultura regida pela natureza, determinista, sobre o homem, dá lugar, depois, das regras da metafísica, ao catolicismo medieval, e, enfim, a modernidade (uma ordem científica e positiva), teria sido superado novamente. Que temos aí? Certamente, não uma descrição, ou uma ciência positiva, apenas. Mas, considerando os objetivos de um ensaio que possa tangir o problema da modernidade líquida ou do mundo da condição da super-modernidade, quanto a isto a que se pode notar no mundo contemporâneo, que, as teorias da filosofia da ciência, somenos consideradas pós-kantianas, comungam com uma estrutura de paradigma, proposta por Thomas Kuhn (2011) em sua obra Estrutura das Revoluções Cientificas, em que a crise na explicação teórica ou baixa capacidade de explicação de uma ciência (chamada de ciência normal), acaba dando passagem a uma transição paradigmática; hodiernamente, portanto, ao lado destas figuras-chave da história intelectual, vemos manifestações culturais brasileiras do modernismo serem alcançadas ao talante de uma fulgurante época de manifestações culturais no mundo desenvolvido.
Somente reabilitando o conceito de valor objetivo e aos nexos inter-subjetivos da tarefa do desenvolvimento, temos mesmo a condição de valorar algo assim, mas é claro que toda citação incorpora alguns questionamentos, pelo menos, do sociólogo, do economista e do pensador, embora, como dissemos, não permite visualizar a falência ocidental em seu corpus teórico-filosófico, fundado em uma raisond’etre, cujo limiar de sua impostura, seria a razão econômica.1
1Não se trata, então da vitória da literatura e das vozes dissonantes sobre a metafísica, ou qualquer coisa do tipo aventado pelo modismo da inovação e da sofisticação como conceito internacional de arte ou teoria estética. Mas, deveras, saber em que esta tradição se apóia, assim, como as inovações dos “sociologues”. Walter Benjamin (18921940), relaciona-se entre os primeiros tradutores com pendores teóricos mais relevantes para o exterior do pensamento filosófico, sendo um dos mais geniais escritores que o marxismo produziu, sob o vórtice da teoria do drama, que, desde Peter Szondi (1980), especificou uma solução para a crise da sociedade burguesa do século XX, mas que, Benjamin, o ângelus novus da história, recorrentemente busca superar com a mesma fórmula dialética da teoria crítica. Com efeito, Benjamin trata de autores como GottholdEphraimLessing, fundador do drama burguês, passa por Simon Bachoffen (Trauerspiel), até chegar no seu Origem do drama trágico alemão, que é o terreno propício a sua enunciação das fórmulas da concertação de uma tradição propriamente sólida da cultura a qual, até aqui, ainda não mencionamos a origem de seu fulgor.
Autores como Bauman atestam para a solidez das instituições sociais (do “Estado de bem-estar”) perdendo espaço, de forma acelerada, que era controlado tipicamente pelo Estado, de que lança mão como controle passou a ser equacionado de uma forma em que a demanda por autocontrole típico da fase moderna, através da formação da identidade se torna muito mais altercante entre uma situação de insegurança que exige a pró-atividade do trabalhador no mundo através da formação de uma nova identidade participativa no ambiente de trabalho, em um sentido em que todos devem ser levados a prestar serviço ao capital.
Será porque, como notado por Hirschmann (1982) assim como Furtado (2007)sustentada por uma ótica periférica, o que de resto, em algumas décadas formou-se por meio de uma visão linear do desenvolvimento econômico brasileiro -, a CEPAL informara a diplomacia na tarefa de criar maneiras de superar uma tendência autárquica do primeiro governo Vargas, pois o Estado Nação promoveu durante algum tempo na sua visão de multilateralismo, um regionalismo fechado, mas hesitava em buscar saídas para a produção brasileira após o crescimento da indústria. No primeiro momento da chamada industrialização por etapas, o mantra era fazer com que jamais fosse perdido aquele otimismo.
O enfoque institucionalista a saber, no que diz respeito a uma ação concertada, diz ser a teoria institucionalista com seu foco nas instituições a forma coerente, com isto. Assim, o que Putnam estabelece por assim dizer são quais as condições necessárias para criar instituições fortes o bastante, porque para serem responsáveis, eficazes, aos cidadãos supõe-se, os cálculos do reformador social devem ser sensíveis às demandas e solicitudes dos cidadãos e aos meios através dos quais se poderia realiza-los, o que fizemos com base em Hirschmann (1982), permitiram breves respostas ao tema do neodesenvolvimentismo, o que para os economistas, fundamentados nos 15 novos governos, o que Putnam irá inspecionar (a partir de 1970), dentre todos que “passaram a ter autoridade sobre uma ampla gama de assuntos públicos” (PUTNAM:1996), o que, afora este fato, permitira com que apontássemos em Sen e Furtado, pelas instituições a lacuna sobre a teoria do desenvolvimento, o que têm sido motivos para estudos desde a antiguidade, e tem feito com que os novo-institucionalista, repousando em um novo marco para pensar novos métodos e preocupações que exigiram diferentes arcabouços teóricos, propor a construção de modelos de escolha para a teoria da escolha social em que a teoria dos jogos assume a dianteira, daí que o estudo do pensamento e que pode
ser elaborativo e estratégico para as organizações no termo da teoria moderna em sociologia, apensamos a teoria da escolha racional, de um lado vimos como as teorias e atividades teóricas que dizem respeito a fins, no caso que problematizo, sem mensurar quais são suas consequências, se inibem ou permitem a inovação numa região remembrada há pouco, incitara, de outro lado, ao que se seguiu concepções variegadas que as instituições impõem à teoria critérios que farão com que a teoria econômica fosse desde o paradigma Schumpeteriano, reducionista, apontando, da inovação, prérequisitos que daí por diante, os quais podem ser a separação das regras do jogo que rege a ação na esfera sócio-política, desde uma perspectiva política, e até mesmo, diferenciando uma análise solicitada pela esfera jurídica em que uma outra noção dada pela estratégia dos atores, que nos permita achegar a uma teoria da instituição, e enfim, conceber a inovação e as instituições pela teoria dos jogos, elevasse a teoria econômica, em forma de extensão do conflito, tanto dotando aos agentes a geoeconomia para seus papéis, mas, sobretudo as rotinas de atividades operacionais fundadas não somente no sistema capitalista, mas também na inovação como instrumento categorial, recuperando o rigor conceitual da economia política.
Se a modernidade, pelo menos desde o discurso filosófico da modernidade e em Teoria da ação comunicativa, em que, à diferença do último livro, neste,, Estado Social e Estado democrático de direito traduzem o “pathos”, dentro da vida num Estado draconiano (Estado mínimo ou Estado policial) – Habermas, 2010; PP: 966), como é o caso na era da globalização do capital, algo ainda deveria ser estabelecido sobre o termo de economias periféricas, a isto, ao que as teorias da filosofia da ciência, somenos consideradas pós-kantianas, denominando poruma estrutura de paradigma, proposta por Thomas Kuhn (2011) em sua obra Estrutura das Revoluções Cientificas, em que a crise na explicação teórica ou baixa capacidade de explicação de uma ciência (chamada de ciência normal), acaba dando passagem a uma transição paradigmática; que o discurso cepalino apresentava-se, basicamente, por ser uma explicação sobre a desigualdade internacional, e não um discurso sobre o desenvolvimento interno de nações específicas, como sendo a mais adequada fórmula para enfrentar o subdesenvolvimentoCom isto em mente, pode-se notar, somente reabilitando o conceito de valor objetivo e aos nexos inter-subjetivos da tarefa do desenvolvimento, pela
ótica estado-cêntrica, desde que à condição de valorar alguns questionamentos,pelo menos, do sociólogo, do economista e do pensador,como Habermas pretende em relação a Karl Marx, em quecumpria notar, que, segundo Habermas, provisionado pela noção de trabalho que estava predicado pela liberdade econômica e a liberdade nas relações de trabalho entre o patrão, ao notar que tal tese passa a determinar uma heurística, a qual não permite a autocrítica que levara ao entendimento do Estado-Desenvolvimentista, buscando realizar o revisionismo, pode-se entender, como o fizemos em Inovação e Modernidade: Um Ensaio de Interpretação Crítica, enquanto, referindo-se à concepção embutida no discurso social que se legitima, ao fazer da relação suposta na troca invariavelmente, uma constante está diretamente vinculada as noções entre progresso material lado a lado no ciclo econômico, emergindo o indivíduo-social, verificar: para os empresários todo o panorama histórico se pode desvelar, pela razão propriamente de autores da teoria social contemporânea, pelo que, para Domingues:
"De um lado, levado em conta os recursos de 'capital', cultural, econômico, social (ou seja, a rede de relações de que dispõe o sujeito); de outro, atentando para o 'reencaixe' que se realiza por esses processos de distinção, por meio dos quais os indivíduos e as subjetividades coletivas se inserem no espaço social - nos diversos tipos de estratificação social que conhecemos" (Domingues, PÁG, 56).
O ponto de partida no que diz respeito ao estudo em tela, é notar que deve estar claro quando se fala de cultura da inovação, propriamente, a que está sendo referido exatamente. Na pesquisa sobejamente conhecida da Sociologia, em que o indivíduo, que para nós constitui-se no centro da argumentação, tendo sido estudado pela Sociologia (mas também pela Economia), leva então, ao estudo da sociedade politicamente e mundialmente organizada, segundo princípios republicanos e configurada a partir de uma noção de história aberta, pensar nisto quando os economistas, ao que tratassem dos fenômenos sociais, para assim buscar na figura do indivíduo aclarar uma relação que sequer foi tangenciada em outras disciplinas, inclusive por estes mesmos teóricos que procuraram entender a relação entre a inovação e a modernidade, alguns problemas, demonstram, pois, naocasião em que Schumpeter escreve em 1909 seu teoria do desenvolvimento econômico, que seria por fim, entendido como um texto que não trazia
à tona questões que, tais como estão atualmente vinculadas ao tipo de experiência social de uma vida socialmente fraca, permitiria, assim, para entendimento da questão destes períodos propostos nos marcos teóricos ante a temática do desenvolvimento, se a noção (sic) de uma “cultura da inovação”, poderia historicamente lançar luz até a hipótese desta cultura da inovação aderir às manifestações culturais no território. Mas, naquele momento o principal objetivo regente da ordem internacional era, não apenas a pergunta quanto ao fato de o reenvio de escravos atender a pendências dada sua proibição, mas que, com o patrulhamento pela esquadra inglesa e a proibição do fluxo migratório ilegal, esta mercancia já não adequava-se à realidade da produção manufatureira, isto porque, de um lado o imperialismo lidava com estas forças históricas de forma independente da corte; e, por outro lado, indica sucessivamente a uma ordem mercantilista, uma nova importância para a tradição ibero-americana, que já agora deveria lidar com o exclusivo comercial aquando da monopolização inglesa do comércio, tal qual o patrono da economia brasileira estabelecera (FURTADO, C. 2008), portanto, a hipótese se esta noção se vincula com base em anotações perturbadoras da teoria social, desde Schumpeter, como vimos, que postula o fato do mundo do capital, esfera social burguesa que carreará recursos em grande monta para a segunda opção, trazendo novamente à cena um tipo de capitalismo totalmente diferente daquele que Schumpeter divisava, aprofundando uma relação por si só problemática, gerando uma metáfora elegante para o capitalismo desde então pelo termo “destruição criativa” (SCHUMPETER, 1961. Pág 108).
Seleção Bibliográfica
ALONSO, Angela. As Teorias dos Movimentos Sociais: Um balanço Do Debate.Lua Nova. N-37 2009.
ARMITAGE, David. Declaração de Independência. Uma História Global. São Paulo: 2010– Ed Cia das Letras.
ARMITAGE, David. Vista dos tres conceitos de historia atlantica. Revista Unisinos - Maio a agosto de 2014.
Albuquerque, E. Apropriabilidade dos Frutos do Progresso Técnico. In: Economia da Inovação Tecnológica (orgs) Victor Pelaez e TamásSzmrecsányi. Ed Hucitec, 2006
Alejandro, Carlos F. Diaz. Alguns Aspectos da experiência do Brasil com a ajuda externa. Revista Brasileira de Economia. Vol. 26 nº1 jan./mar. 1972.
ALMEIDA, Paulo Roberto de. Relações Internacionais e Política Externa do Brasil – a diplomacia brasileira no contexto da globalização. – Rio de Janeiro: LTC, 2012.Arendt 2012: A condição humana. Hannah Arendt.; Roberto Raposo, revisão técnica: Adriano Correia. – 11.ed – Rio de Janeiro: forense universitária, 2010.
Alejandro, Carlos F. Diaz. Alguns Aspectos da experiência do Brasil com a ajuda externa. Revista Brasileira de Economia. Vol. 26 nº1 jan./mar. 1972.
Altemani de Oliveira, Henrique A Política Externa Brasileira. São Paulo: Ed Saraiva: 2010.
Armitage, David. Declaração de Independência. Uma História Global. São Paulo: 2010– Ed Cia das Letras.
Almeida, Paulo Roberto de. Relações Internacionais e Política Externa do Brasil – a diplomacia brasileira no contexto da globalização. – Rio de Janeiro: LTC, 2012.
Alonso, Angela. As Teorias dos Movimentos Sociais: Um balanço Do Debate.Lua Nova. N-37 2009.
Arendt, Hannah. Origens do Totalitarismo. São Paulo – Ed Cia Das Letras: 1989.
Arendt, Hannah. Escritos Judaicos, Ed Paz e Terra. São Paulo 2016.
Bauman, Z 2001 Modernidade Líquida/ ZygmuntBauman; tradução, Plínio Dentzien. – Rio de Janeiro: Zahar, 2001.
Bauman Z Em busca da política/ Zygmunt Bauman; tradução Marcus Penchel. – Rio de Janeiro: zahar, 2000. Barbosa, Mário. A África como Vetor de Política Externa. In: Missões de Paz. Rio de Janeiro - Log on multimídia: 2003
BAUMAN, Z. 2001 Modernidade Líquida/ ZygmuntBauman; tradução, Plínio Dentzien. – Rio de Janeiro: Zahar, 2001.
BAUMAN Z. Em busca da política/ ZygmuntBauman; tradução Marcus Penchel. – Rio de Janeiro: zahar, 2000.
BARBOSA, Mário. A África como Vetor de Política Externa. In: Missões de Paz. Rio de Janeiro - Log on multimídia: 2003.
BEIGUELMAN, Paula. O Processo Político-Partidário Brasileiro De 1945
Ao Plebiscito. In: Motta, Carlos Guilherme - Corpo e Alma do Brasil. Ed 34, 1980
Beiguelman, Paula. O Processo Político-Partidário Brasileiro De 1945 Ao Plebiscito. In: Motta, Carlos Guilherme - Corpo e Alma do Brasil. Ed 34, 1980.
Berman Marshall. Tudo Que É Sólido Desmancha No Ar. A aventura da modernidade – São Paulo : Companhia das Letras, 1986.
Benjamin, Walter. Origem do Drama Trágico Alemão. Editora Cosac e Naify, 2011.
Bourdieu, Pierre. O poder simbólico. 16 Ed - Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2012.
Carvalho, José Murilo. Cidadania No Brasil: O Longo Caminho. Cidadania no Brasil: o longo caminho/ – 15.ed. – Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 2012.
Cardoso, João. Capitalismo Tardio. Ed Brasiliense, 1982 – Rio De Janeiro.
CAPRA,Fritjof. O ponto de mutação. A ciência, a sociedade e a cultura emergente – São Paulo: cultrix, 2012.
CASTEL, Robert. As metamorfoses da questão social. Ed Vozes - 1998.
Capra,Fritjof. O ponto de mutação. A ciência, a sociedade e a cultura emergente – São Paulo: cultrix, 2012
Cervo. (2013_a). Amado Luiz Cervo. Introdução à política externa e às concepções diplomáticas do período imperial. (In). Pensamento Diplomático Brasileiro – formuladores e agentes da política externa (1750 – 1964).
______, A. (2013_b). Inserção Internacional. A formação dos conceitos brasileiros. São Paulo: Ed Saraiva, 2008.
CHALLIAND, Gerard; Os mitos revolucionários do terceiro mundo. Ed Francisco Alves – Rio de Janeiro, 1977.
CIPOLA, Francisco Paulo. A Inovação Na Teoria de Marx. In: Economia da Inovação Tecnológica (orgs) Victor Pelaez e TamásSzmrecsányi. Ed Hucitec, 2006.
Pierucci. - São Paulo: Companhia das Letras, 2004.
Carvalho, José Murilo Cidadania No Brasil: O Longo Caminho. Cidadania no Brasil: o longo caminho/ – 15.ed. – Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 2012.
Cardoso, João. Capitalismo Tardio. Ed Brasiliense, 1982 – Rio De Janeiro.
CAPRA,Fritjof. O ponto de mutação. A ciência, a sociedade e a cultura emergente – São Paulo: cultrix, 2012.
Da Costa e Silva, Alberto. Das Mãos do Oleiro: aproximações. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2011.
D’ávila Jerry. Hotel Trópico. O Brasil e o desafio da descolonização africana (1950-1980) – São Paulo: Paz e Terra, 2011. Dahman, C; Salmi, J; Rodrigues, A. 2008: 34 RODRIGUEZ, Octávio; DAHLMAN, Carl; Salmi, Jamil. Conhecimento e inovação para a competitividade. Washington D.C. The International Bank For Reconstruction And Development., World Bank, 2008. ISBN: 978-0-82137438-2.
Del Vecchio, Angelo (ORG). O Brasil e os Estados Unidos no Contexto da Globalização. Ed Sociologia e Política, 2010.
Deustcher, Karl. Análise das relações internacionais. Editora da Universidade de Brasília. 1978.
Da Costa e Silva, Alberto. Das Mãos do Oleiro: aproximações. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2011.
DOMINGUES, José Maurício. Sociologia E Modernidade -Para entender a sociedade contemporânea. Rio De Janeiro: Ed Civilização Brasileira, 2005.
Doretto, Lúcia Kasinsky, Abrão. Um Gênio Movido a Paixão. Ed Objetiva:2012.
Frank, André G. Fuentes, Marta. Dez teses acerca dos movimentos sociais. Lua Nova. n.17: São Paulo, junho de 1989. Da Costa e Silva, Alberto. Das Mãos do Oleiro: aproximações. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2011.
Dávila, Jerry. Hotel Trópico. O Brasil e o desafio da descolonização africana (1950-1980) – São Paulo: Paz e Terra, 2011.
DOMINGUES, José Maurício. Sociologia E Modernidade -Para entender a sociedade contemporânea. Rio De Janeiro: Ed Civilização Brasileira, 2005.
Doretto, Lúcia. Kasinsky, Abrão. Um Gênio Movido a Paixão. Ed Objetiva:2012.
Eli, José Eli. Desenvolvimento Sustentável: desafio para o século XXI. Garamond, Rio de Janeiro: 2010.
Elliot, T. S. Notas para a Definição de Cultura. Coleção Abril Cultura
Furtado, Celso. Capitalismo Global – Rio de Janeiro. Ed Paz e Terra: 1998.
Furtado, Rosa Freire D’aguiar (ORG) e Celso Furtado. Arquivos Celso Furtado. Primeiras reflexões – Que Somos? Rio de Janeiro: Contraponto: Centro Internacional Celso Furtado, 2012. (Arquivo Celso Furtado; v 5).
Doretto, Lúcia. Kasinsky, Abrão. Um Gênio Movido a Paixão. Ed Objetiva: 2012.
FEHREJOHN, J. Judicializing politics, politicizing law. Law & Contemporary Problems, v 65, n.3, p.41-68, 2002. Disponível emhttp://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1251&context=lcp. FEHREJOHN, J. Judicializing politics, politicizing law. Law & Contemporary Problems, v 65, n.3, p.41-68, 2002. Disponível em http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1251&context=lcp.
FURTADO, André. Difusão Tecnológica. Um Debate Superado? In: Economia da Inovação Tecnológica (orgs) Victor Pelaez e TamásSzmrecsányi. Ed Hucitec, 2006.
FURTADO, André. Difusão Tecnológica. Um Debate Superado? In: Economia da Inovação Tecnológica (orgs) Victor Pelaez e TamásSzmrecsányi. Ed Hucitec, 2006
Furtado, Celso. Capitalismo Global – Rio de Janeiro. Ed Paz e Terra: 2007.
Furtado, Celso. Criatividade e dependência na civilização industrial. São Paulo, Cia das letras.2012.
Furtado, Rosa Freire D’aguiar (ORG) e Celso Furtado Arquivos Celso Furtado. Primeiras reflexões – Que Somos? Rio de Janeiro: Contraponto: Centro Internacional Celso Furtado, 2012. (Arquivo Celso Furtado; v 5).