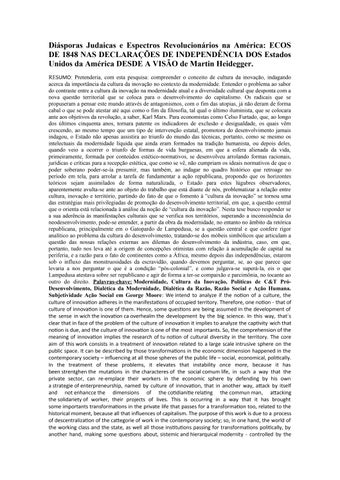Diásporas
Judaicas e Espectros Revolucionários na América: ECOS DE 1848 NAS DECLARAÇÕES DE INDEPENDÊNCIA DOS Estados Unidos da América DESDE A VISÃO de Martin Heidegger.
RESUMO: Pretenderia, com esta pesquisa: compreender o conceito de cultura da inovação, indagando acerca da importância da cultura da inovação no contexto da modernidade. Entender o problema ao sabor do contraste entre a cultura da inovação na modernidade atual e a diversidade cultural que desponta com a nova questão territorial que se coloca para o desenvolvimento do capitalismo. Os radicais que se propuseram a pensar este mundo através de antagonismos, com o fim das utopias, já não deram de forma cabal o que se pode atestar até aqui como o fim da filosofia, tal qual o último iluminista, que se colocara ante aos objetivos da revolução, a saber, Karl Marx. Para economistas como Celso Furtado, que, ao longo dos últimos cinquenta anos, tornara patente os indicadores de exclusão e desigualdade, os quais vêm crescendo, ao mesmo tempo que um tipo de intervenção estatal, promotora do desenvolvimento jamais indagou, o Estado não apenas assistira ao triunfo do mundo das técnicas, portanto, como se mesmo os intelectuais da modernidade líquida que ainda eram formados na tradição humanista, ou depois deles, quando veio a ocorrer o triunfo de formas de vida burguesas, em que a esfera alienada da vida, primeiramente, formada por conteúdos estético-normativos, se desenvolveu arrolando formas racionais, jurídicas e críticas para a recepção estética, que como se vê, não cumpriam os ideais normativos de que o poder soberano poder-se-ía presumir, mas também, ao indagar no quadro histórico que retroage no período em tela, para arrolar a tarefa de fundamentar a ação republicana, propondo que os horizontes teóricos sejam assimilados de forma naturalizada, o Estado para estes lúgubres observadores, aparentemente avulta-se ante ao objeto do trabalho que está diante de nós, problematizar a relação entre cultura, inovação e território, partindo do fato de que o fomento à “cultura da inovação” se tornou uma das estratégias mais privilegiadas de promoção do desenvolvimento territorial, em que, a questão central que o orienta está relacionada à análise da noção de “cultura da inovação”. Nesta tese busco responder se a sua aderência às manifestações culturais que se verifica nos territórios, superando a inconsistência do neodesenvolvimento, pode-se entender, a partir da obra da modernidade, no entanto no âmbito da retórica republicana, principalmente em o Gatopardo de Lampedusa, se a questão central e que confere rigor analítico ao problema da cultura do desenvolvimento, tratando-se dos móbeis simbólicos que articulam a questão das nossas relações externas aos dilemas do desenvolvimento da indústria, caso, em que, portanto, tudo nos leva até a origem de concepções otimistas com relação à acumulação de capital na periferia, e a razão para o fato de continentes como a África, mesmo depois das independências, estarem sob o influxo das monstruosidades da escravidão, quando devemos perguntar, se, ao que parece que levaria a nos perguntar o que é a condição “pós-colonial”, e como julgava-se superá-la, eis o que Lampedusa atestava sobre ser republicano e agir de forma a ter-se compaixão e parcimônia, no tocante ao outro do direito. Palavras-chave: Modernidade, Cultura da Inovação, Políticas de C&T PróDesenvolvimento, Dialética da Modernidade, Dialética da Razão, Razão Social e Ação Humana. Subjetividade Ação Social em George Moore: We intend to analyze if the notion of a culture, the culture of innovation adheres in the manifestations of occupied territory. Therefore, one notion - that of culture of innovation is one of them. Hence, some questions are being assumed in the development of the sense in wich the inovation ca overhealm the development by the big science. In this way, that´s clear that in face of the problem of the culture of innovation it implies to analyze the captivity wich that notion is due, and the culture of innovation is one of the most importants. So, the comprehension of the meaning of innovation implies the research of tu notion of cultural diversity in the territory. The core aim of this work consists in a treatment of innovation related to a large scale intrusive sphere on the public space. It can be described by those transformations in the economic dimension happened in the contemporary society – influencing at all those spheres of the public life – social, economical, politically. In the treatment of these problems, it elevates that instability once more, because it has been strentghen the mutations in the characteres of the social comum life, in such a way that the private sector, can re-emplace their workers in the economic sphere by defending by his own a strategie of enterpreneurship, named by culture of innovation, that in another way, attack by itself and not enhancce the dimensions of the cotidianitie relating the commun man, attacking the solidariety of worker, their projects of lives. This is occurring in a way that it has brought some importants transformations in the private life that passes for a transformation too, related to the historical moment, because all that influences of capitalism. The purpose of this work is due to a process of descentralization of the cattegorie of work in the contemporary society; so, in one hand, the world of the working class and the state, as well all those institutions passing for transformations politically, by another hand, making some questions about, sistemic and hierarquical modernity - controlled by the
state, in a typical type of controll in the Welfare form assumed, what is being transformed is not discussing for anyone and it is named by the culture of innovation and also, the new form of control, influencing the process of identity formation, with the so called intrusive sphere in the public space is due to a new form of participation on the economic activitie that can be designed merelly for a service to the capital? - Dialetics of Modernity – Reason and Action – Whitehead –Moore – Dialetics of Reason.
I - Introdução.
É que o homem está enquanto generidade ontologicamente em sua generidade unicizado a um sentimento de crisis que pode leva-lo a extinção, ou seja, o Homem em sua existência neste sistema historicamente fundado, a partir de uma relação sociedadenatureza, pela técnica, defronta-se com um objetivo no momento em que a maquinaria forjada como modo de produção ou, como quer que lho entendamos, por uma pletora de modelos de desenvolvimento sobre um padrão energético que destrutivamente se desenvolveu assolado por uma miríade de casos de que, por serem levados ao paroxismo, descarrilaram a locomotiva do desenvolvimento ocidental em sua vertente liberal-industrialista, assim, depura-se um saber que por este cultismo, et pour cause, de jamais termos alternativas ao modelo político liberal clássico, tendo sido decantado pela solicitação de sua expansão metabólica – o que o torna imbricado, no seu atual momento crítico, cujo mecanismo sócio-metabólico, já especificado por nós, sob o termo extinção, já que sua base material imbrica-se a exploração extrativo-mineral, se faz pela ótica do controle -, hodiernamente, fazem deste tipo de conhecimento um tipo de dominação e manipulação técnico-burocrática, em que, a exploração do saber pela transformação em sua própria exclusividade unicizante pelo fator cataláctico, técnico, ambos dialogicamente, num padrão entendido como capital humano, faze- nos adentrar em terreno conceitualmente onde esgueirado no espelhamento da realidade, a realidade deste período pelo que se deixa entrever, é a decantação de um fator de exploração com vistas ao lucro, donde tratarmos nesta altura do seu retrocesso ao velho problema de Lukács quando desde suas leituras sobre a metafísica em Nikolai Hartmman avultava-se o que denominou de uma consorte de pessoas em um hotel diante de um abismo, a velha visão do Hotel Abergrund. Diante deste que foi o maior gênio europeu produzido pela tradição humanista em diálogo com a verstehen Weberiana, de quem foi discípulo, Lukács antes que rompesse com a tradição humanista e enveradasse, sob a ótica das teses de Rosa Luxemburgo ao enfretamento teórico do binômio civilização ou barbárie, deste ponto de vista, a pergunta sobre que paradigma se refaz ante ao ponto de vista descortinado pelo autor de A Ontologia do Ser Social, é a de que é necessária uma visão intermediária, em que a conceituação de um norte epistêmico, haja nada menos nada mais que o pressuposto, de que seus conceitos fundamentais passem pela tematização das relações sociais cujos membros do corpo coletivo, por que a técnica se evolve de forma linear, quando, por outro lado, vive-se numa era disruptiva, e, então se nossa visão sobre o fim da época moderna estiver correta, somente ao responder a noção categorial de que modo de relação sócio-metabólica entre homem-natureza se coloca diante do estudioso, mas que toda a sociedade possa ao fim do que se prestava a uma mera narrativa objetificante, sobre que mundo vivemos, possamos fazer escolhas sobre o futuro, no qual sejamos por assim dizer, arremetidos qual o anjo da história de Benjamin, que se voltava como o ângelus novus da história ao princípio destes acometimentos, no seu olhar voltado para trás, enquanto almejava ver onde se arrojava. Por isto, quando nos voltamos ao positivismo, no Brasil, considera-se, para um país que
em sua república, desde a sua mais tenra idade, quando de forma lépida, cristaliza-se o liberalismo, algo que o fez inserir-se no tal padrão de um conjunto de países em que seja pela visão, esta sim clássica, da verstehen sob a égide da nova ciência produzida pelo oitocentos, a econômica política, junto de uma nota que a partir daí a acompanha, que é a democracia por sufrágio, vemos que por esta razão, a inserção concebida pelo livrecambismo, em que este país, vale dizer, o Brasil, se torna parte do mercado mundial, considerando-se ante ao requisito inicial pelo qual fizemos retroagir a análise, pela forma de sua relação com o mundo. De nação soberana e Estado independente, a uma relação unitária com seus países vizinhos, dos quais todos se lhe abriram como que por meio de fronteiras equânimes e de relação recíproca, a um condomínio conspícuo, dentre os quais se inserem por meio de uma comunidade do cone-sul. Se, quando, através da argumentação não parece ter ficado claro, é forçoso que se faça notar, fazendo-se mister relembrar que esta é a época do auge da colonização britânica, e depois da colonização ibérica, o Brasil se viu como que em seu padrão ouro, determinado por uma tradição liberal cuja opção se fez voltar ao eixo anglófono, assim, por esta época, em recente obra do Nobel Vargas Llosa, Roger Hugh Casement, trata da vida deste que foi talvez o mais controverso cônsul Britânico, imbuído, que estava do plano distante de traçar, como Joseph Conrad, sua biográfia, Llosa, escreve, a contrapêlo da obra canônica do modernismo ocidental, que é o Coração Das Trevas, o que lhe valeria o Nobel considerando ainda o conjunto da tradição de seu realismo mágico, segundo a tradição de García Márquez, concebido por influência como frisado em seu livro-biografia, quando, ao alcançar este intento, em prol dos direitos humanos, vale dizer, o resultado da vida e obra de Casement, notamos que, portanto, essencialmente, ao tratar de como era a sociedade anterior à sua independência, vemos que em muito por obra de aventureiros, como quer que entendamos a raiz etimológica do que era explorar novos rincões, o que quer que estes exploradores estava fazendo, considerando condições distintas, era o que idealizavam pela noção de hermenêutica ou cosmovisão missiológica, resultado do fato da empresa ultramarina envolverem os interesses do clero europeu, onde quer quer as naus portuguesas ou inglesas, francesas ou espanholas aportassem. Casement, enquanto defensor dos índios, estava correndo não atrás de suas riquezas, mas movido pelo desejo de lhes conhecer, uma real missão transcultural. Estes povos ainda não haviam sido alcançados pelo que quer que entendamos ser a civilização, europeia ou milenarmente oriental e, Roger Hugh Casement, que, junto dos colonizadores tratados por Conrad, numa primeira biografia, influente do realismo de Llosa, mostra que, empresário ou religiosos, monarcas ou clérigos, em meio aos nativos, ou caçadores de recompensas usados por forças alienígenas, ainda não haviam proposto, como o Cônsul Casement, algumas questões fundamentais, as quais vieram a serem esclarecidas somente no modernismo e que, simplesmente não poderiam serem respondidas como que por uma emanação de deuses primiticos como Sahugun, tal qual demonstrado por Tzetan Todorov em uma apreciação semelhante de Colombo, ante aos nativos americanos, que, como Casement, recebiam as orientações culturais de empresários ou políticos colonialistas.
Assim, como a vemos hoje, a extinção se dá por um cultismo, pré-fixos e sincronias conceituais que dificilmente escapam a metaética ou a história a contra-pêlo, ou se se preferirem aos discursos tratados, às narrativas econômicas ou políticas, mas a filosofia clássico-moderna da perspectiva liberal, a história contra-factual cujo fronteira
hard se traduz pela escola histórica de Harvard no hemisfério norte. Por ora, dizemos que a exaltação da criatividade imaginativa portuguesa em Camões está longe de esmaecer o caráter destrutivo da sanha capitalista por novos mercados, mister notar é que a feitura de sua obra poética já elevara-se aos mais altos cumes da força sapiencial desta que é a expressão da obra colonizatória portuguesa. Toda a sua artificialidade poética na primeira versificação de os lusíadas, demonstra o intento do que Camões inaugura, batiza e empresaria, vale dizer, concebe por Portugal, o enfrentamento de perigos, os quais o mesmo Casement, viveria no Congo, Amazônia ou Peru, como retratado pela verve da narrativa modernista Conradiana, perigos, estes que Camões por si mesmo, já como que pelo esforço descomunal à revelia de sua carga pesada, o que não impediu-o de sobrelevar-se ao monte, que, segundo nos conta relatos da época, descobriu-se um continente além do europeu, o Brasil. À força ou não, certamente tal feitura à fórceps é um estilo novo da narrativa contra-factual, e engenho algum alhures, poderia prometer alguma demanda mais hercúlea que aquela poesia Camoniana faz parecer quando de arremetida, ante a construção do império, parecera-lhe a dilatação do plenipotenciário, ou, nestes traços de força imaginativa, se assim se preferir, o cumprimento da diástole de seus domínios. Esta diástole, que se nos afigura atualmente como distante, mas que nos coloca em ponto decisivo da história, a terra ante a sua extinção, passará ainda por um valor cultural maior que o de Alexandre Magno entre os Gregos, pois não se trata apenas da conquista, mas do fato das possibilidade de continuidade da civilização ante a perspectiva, se já distante da possibilidade de uma hecatombe nuclear, já agora de uma destruição cataclísmica por fatores do aquecimento global. A perspectiva inaudita que se inaugura em terreno pela conquista ibérica, é a da força plasmadora na medida em que a ocupação do Novo-Mundo, e, portanto, de Portugal em Terra Brasilis, faz com que já agora como o povo Hebreu, conquista canaã, a terra santa cuja tomada se faz em Sitim, e cuja semelhança Camões ou Todorov, com Colombo, quer nos pintar sobre telas idílicas.
Enfrentando perigos, já sendo por isto mesmo não o anverso da luta pela libertação dos judeus, do poder de Ra, vincula-se a um esforço de grande monta e, enquanto a conquista de Canaã se dá pela possessão eterna de Deus, Camões retrata que o território representa a conquista do que Moisés buscava realizar, onde a entrada em Sitim, quando isto se dera enquanto por resultado da conquista, na terra de Canaã, por seu turno, a Camões a conquista se lhe afigura a entrada no Hades, um termo arcaico, certamente trazido por Hermes, cuja ressalva, se faz que, enquanto o emprego entre os gregos era certamente emanação da poética, seja de Homero ou Ulysses, como quer que entendamos a temática aqui exposta, se faz como que por considerar os povos a serem conquistados pela designação de um enviado, no caso Egípcio, da própria morte, em que a deidade exclusivista, do monoteísmo, se defronta em seu estertor ante a luta final, contra os seus carrascos costumeiros, seja por que a conquista do descobrimento decorre de uma dádiva ou propósito, seja porque opera por seus escritos canônicos a entrada na terra prometida. Fica claro que este hades são as muitas portas que se fecharam, perdemos tempos irrecuperáveis e, talvez não seja possível voltar a construir idílios; uma perspectiva inaugurada por Heidegger com o Ser-No-Mundo em Geral como Constituição Fundamental da Presença e, o que fizemos foi simplesmente aplica-la conforme tenhamos clara, pela co-presença da estilística musical barroca na esfera da orquestração Gótica, para entender o que podemos atestar, como em Angel Miguel no
Renascimento, a perfeição da dissonância inaugurada pelo que se entenderia a não ser por seu eruditismo, preso a antiguidade, mas que Heidegger vincula ao contexto do mistério. Não que não fosse revelado, mas que, pelos segredos do universo com quanto a isto, o seu mistério último ainda não fora revelado.Claro que ao citarmos autores do medievo ou profetas do que viria a se tornar o mundo moderno ainda não estivéramos ante a destruição completa, do que se poderia atestar como o triunfo da técnica almejado pelo aprovisionamento filosófico de Heidegger, mas que, simplesmente, de forma ponderada escapa-se da Torá.
Podemos ver alusões às notas apensadas acima ao que poderíamos reconhecer como Bhagavati, história contra-factual, hermenêutica do medievo histórico, poética, epopeias ou atualmente, discursos revolucionários, em que o escólio heideggeriano aqui esboçado quer demonstrar que, além das Crônicas dos Reis da Média e Pérsia, nas Crônicas de um certo Rei Chamado Davi e que, passa pelo Livro dos Atos de Salomão, com o fim da revelação, chegamos, com o entendimento do estudo das civilizações ao termo da tradição filológica, não que a saída pela interveniência de Deus, na vida do povo hebreu, tenha deixado de ser expressão teofânica, mas que aquilo que veio a caracterizar a diáspora hebraica por terem deixado território midianita e encontrado depois de Sitim a terra de Canaã é o que procuramos encerrar em uma representação de como podemos encontrar num mesmo período, a arte moderna e a história da filosofia, a arte das primeiras escrituras sagradas em novas redomas filológicas, a hermenêutica de cosmovisões cuja centralidade se presta ao entendimento do mistério último ao cruzar o portal de Hades (leia-se sepulcro).
Se, de um lado, após a a reforma ocorrida na cidade de Tel El Amarna, como apontado em Juízes, na Bíblia Arqueológica, houvera certo alarmismo quanto ao exclusivismo da deidade a RAR, na cidade de Menfis, isto logo se vê, sendo facilmente notado na medida em que pelo ponto em que as dinanstias desde o crescente fértil do Delta do Nilo, lado a lado, por Há Harakab, em Tebas, capital da cidade de Ramsses, sobressalta-va-se por relatos bizarros,, por outro lado, Hatsheput, a Nova Rainha, da outra região apunha fatos ainda mais estarrecedores, seguindo uma tradição. Relógiosa distinta da do antigo Egito E mister notar que o historiador das sociedades arcaicas, entendam que a solarização em Pi-Ramsses, vale dizer, a cidade onde sediava-se a primeira dinastia de Tutancamon, se dava, como emanação de Deidades auto-suficientes num reino autóctone, já em Amarna, vir-se-ia como uma imensidade da noite, quando a ela se segue e, se vincula, o futuro da dinastia do período intermediário, pelos próprios percalços dos fatores internos do equilíbrio político-comercial para lembrar uma nota conhecida da a historia antiga, em que o poder era econômico e politico como um mesmo sentido.
Entenda-se bem, Hatsheput era a rainha responsável por organizar estas expedições, por intermedio de Amon na linha de Bem Ami. Até Punt e Djanet, portanto, a região do Tanis assistiu, e, se lhe abriu, enquanto rainha rival a Ramsses, precedentes em que suas cargas se arrojassem em Bíblos prontos a despojar as riquezas da região de Pi-Ramessida, de um modo tal que diferentemente de Hathor, a Deusa dos sicômoros, que, de Cairo a Alexandria, as expensas do Reinado no Delta do Nilo, passa a ser objeto de relatos de escrivães e oficiais do seu reinado dinástico, envia Amon, segundo uma forca nem um pouco centralizadora, e um tanto quanto dividida a região do Cairo.
No que toca a região Pi-Ramessida, quando mais não fora sua extinção diária, após a duração da noite, deve dar lugar não ao Numen, vale dizer, a iluminação da divindade que alegra durante o dia, assim, se já quando a Deusa dos Sicômoros,atendendo, como devia estar claro, pela consigna designada por Aton, e mais, se apenas no que tange aos raios solares, mas não pela regência oficial do reino, como atestado por escrivãs, em Phoenix, decorre dai, a escritura em Juízes neste espasmo inicial de reforma religiosa, ocorrida e relatada por historiadores que se debruçaram sobre o reinado de Akhenaton IV, ate mesmo no livro de Juízes, onde decorre, sobre o episódio da reforma religiosa apontando agora uma nova importância para a transcendência e os mitos, a emanação de Athon. Tanto e assim que segundo relatos da História antiga, mesmo quando o foco e o episódio de Amarna, vemos evolver-se o reinado em seu apogeu, pelo menos desde a construção de Menkaura (segundo informações chegadas de monólitos de egiptólogos alemães) portanto, entre 1897 A 1894), antes da era Cristã – como e conhecida a segunda das pirâmides levantadas no apogeu do período da segunda idade do bronze -, o que, segundo uma ótica apontada por estudos deste egiptologista sobre a era de Senuoseret, percorre a sina egípcia num reino triunfal sobre os demais povos da região, pelo menos desde Akenhaton), antes portanto, repetimos enfaticamente, da cunhagem quantitativa da Numistatica que pressuporia uma economia interna comercial e sem escravidão.
Quando, então, e a pergunta, se dera a ocasião da efígie da rainha como a colocamos, a seguir, o que deveria divinizar o mesmo, ou seja, tanto a Akhenaton e a Hatsheput? Que os autores bíblicos apontassem A yhwhe, cujos relatos descendem dos períodos anteriores a linhas dinásticas irmanadas em Kahfren, no crescente feritl pelo Delta do Nilo, que aparecereis já entre os Ugariticos, na terceira idade do bronze, chegando a 1479 anos, depois na a era seguinte, a Crista, isto esclarece um ponto importante da imigração até Mídia. Mas, já agora, recebendo em deben, dinheiro ou prata, vemos o episódio de Amarna ceder lugar na pena deste mesmo autor, em que, Ciro Cardoso, apontando em Baal-Biblos, também presente no Livro de Reis, como dissemos, por que para Cardoso, ficara claro, não apenas tomando os relatos das escrituras, já que, nos relatos bíblicos, e, não apenas em relatos como os de Unnamon, escriba (?), oficial (?), o qual, embora houvessem sicômoros como a base da economia no em Tjanet-Punt, isto não ocorria em Cairo e Alexandria, portanto, Hatsheput se lançava a uma nova dinastia, depois do período intermediário, como esperávamos que ficasse claro, portanto, depois do segundo milênio da era crista numa contagem retroativa, como é típica do calendário romano, mas, o que, explica, tal fato, ou seja, o episódio do assalto a Amon corporificar um novo tipo de relato historiográfico, se, em Tel El Amarna, capital com conselhos tribunais e Ofícios, o relato historico, não condiz com um reino celestial como entre os hebreus, ou seja, por que, não traz a resolução do termo de conflito entre as regiões, vendo-se sucessivas dinastias ate a resolução do episódio de Amarna, com o fim do reinado de Ramsses III?
Estamos perguntando se antes da era. Crista, segundo a ótica por exemplo de Senuosereet,, ao divinizar Baal, havendo Amon sido roubado ao aportar em Bíblia, se este estuário em que la se arrojava, o mesmo, atendia ao recebimento de cargas, ou se as divindades eram naturalizações mistificadas através da numistatica, quando, então, se dera ocasião da efígie que deveria dinizar Hatsheput, devendo, agora, ocupar de forma
mais clara ou resoluta, o que, pela cessação do trabalho escravo, ou por relatos, rasteiros de oficiais articulados a serviço dos faraós, não se deixava perscrutar?
Reafirmamos, apenas que a base da divinização da rainha Hatsheput devida a numistatica não tergiversa sobre os textos bíblicos, parecendo-se apoiar na investidura de Hatsheput, unicamente por ser a sua. Representação politica, por outro ado, a crença agora não direcionada a Aton, mas a Akhenaton I, irá passar a ser no período intermediário, entre 2400-2150 a.c e 2130-2140, como uma linha seguinte, por relatos que faziam do culto as deidades, responsáveis por desgraças a elas imputadas que pouco se valiam da historia do próprio povo, mas de uma naturalização em que os Faraós sobre elas se investiam, ou delas se revestiam, ora por, resultado da adoração a Alhenaton IV não mais, como ficou claro, pela sobre determinação do trabalho compulsório, ora pela emanação do que se retina do Deus sol.
II - Justificativa
A questão central que orienta este trabalho está relacionada à análise da noção de “cultura da inovação” e sua aderência às manifestações culturais que se verifica nos territórios. Para tanto, algumas questões podem ser formuladas. Entre elas: o que significa “inovação” e qual o conteúdo da noção de “cultura da inovação”? Qual a referência de território e de grupo social que acompanha a noção de “cultura da inovação”? O significado implícito à noção de inovação no contexto da cultura que se pretende promover coincide com o que os atores territorializados pensam acerca da ação de inovar? Ao final, ficará evidente que, na formação do mundo do liberalismo clássico, eis que o significado da noção de “cultura da inovação”, em face do tema da diversidade cultural, equipara-se a analisar os fundamentos teóricos que subsidiam a formulação de ciência e tecnologia e seus instrumentos de política no espaço de desenvolvimento, uma vez que o tema da modernização pode ser abordado, como notado pela economia política (“politik-wirstchafften”), quando se avalia a eficácia dela em metas alcançáveis. Naquela fase da modernidade, em que o discurso do desenvolvimento se presta a noções sobre o desenvolvimento no escopo da jurisprudência de cunho prudencialista, quando, ainda, se avalia a eficácia das políticas, prevalecendo a proposta vitoriosa atual, nas repartições públicas de estado e chancelarias, é a de que deve-se complementar à questão das liberdades substantivas (já agora determinadas como liberdade política, liberdade econômica, segurança protetora, facilidades democráticas e garantias de transparência), por um entendimento de que existem encadeamentos, segundo a velha terminologia de Albert Hirschmann: tal qual proposto pelo enfoque do Nobel Amartya Sen, que, no momento tardio da sua publicação desde que, naquelas suas linhas gerais, teoricamente consagradas, pois, na obra desenvolvimento como liberdade, foram então alçadas nos seus pilares mestres, a uma forma universal conquanto encarava, tanto a sua promoção, como aspectos específicos do aumento das capacidades das pessoas, para contribuir unicamente para o desenvolvimento em sua forma instrumental. Assim, chegamos ao atual termo histórico em que dentre todo o rol de liberdades constitutivas do liberalismo clássico e que, antes mesmo das hermenêuticas carreadas em uma primária análise sobre o entre-guerras, consubstanciada em críticas a lá Schumpeter sobre os direitos sociais e econômicos, ou mesmo o interacionismo simbólico, respectivamente, que nominavam, pois, o nobel, Amartya Sen
retrospectivamente, de intitulamentos como esteio de uma avaliação desde o enfoque seniano, pelo que estas mesmas hermenêuticas carreadas sob o influxo ideológico que remontam aos anos 30 em economia, quando, portanto, influenciassem, ainda que, pensando que ambas as influências, fossem elas de alemães, principalmente, e em um primeiro momento desta fornada, se reencontra novamente hoje:
Neste caso, em que o dilema econômico do economista, desde que formados sob a redoma do liberalismo, se tais autores sejam mesmo, propriamente todos tributários da revolução econômica na Europa do século XVIII, chegando até mesmo na contemporaneidade, inicialmente, em textos que trazem a tona que, o que para os iluministas, eram encarados, tais questões, forjada por insights sobre os intelectuais da economia, da grande crise, estes autores fizeram destas regiões, descendendo por isto mesmo destas influências daquele mesmo influxo ideológico, hoje extemporâneo, no entanto, na medida em que se desenvolveriam, desde então, por uma análise sobre os direitos vis-à-vis a sua escala de bens econômicos, conseguintemente, nestes “tristes trópicos”, será que um entendimento de que existem encadeamentos, segundo a velha terminologia de Albert Hirschmann, e que, segundo o enfoque de criatividade e dependência na civilização industrial, propriamente sob a mesma controvérsia entre estatistas e desenvolvimentistas, o desenvolvimento como liberdade, venha a ser o esteio, de um lado, para que, pela declaração de independência se possa, enfim, encarar a sua promoção, como aspectos específicos do aumento das capacidades das pessoas e contribui unicamente para o desenvolvimento em sua forma instrumental, para que, de outro, tomando tais bens como direitos políticos, nos discursos da mudança social, sopesar se no momento, quando deste contexto, se esvai a noção de estrutura e o debate do crescimento desigual, ao se estabelecer, paulatinamente diante de crises nas relações de produção e, sendo a questão central e que confere rigor analítico ao problema da cultura do desenvolvimento, avultar-se-iam móbeis simbólicos que articulam a questão das nossas relações externas aos dilemas do desenvolvimento da indústria no Brasil? Conquanto a noção de Celso Furtado parece responder aos mesmos anseios de Amartya Sen, fundamentando a controvérsia entre visões de mundo moderna, distintas da de Frankfurt mas semelhantes a das agências da Organização das Nações Unidas, comportando-se as massas e agregados segundo uma visão do modelo cultural em nutshells desde sua elucidação dos termos de uma identidade cultural latino-americana, desta feita pela noção de políticas de ciências e tecnologia, como pensar o lugar das pessoas no discurso do desenvolvimento para desenvolver o local e o global sinergicamente, quando a renda per capita, sob a ótica de um controle auto-imposto e não segundo o pan-ópticon de Bentham, restaura as bases de mais um ciclo de longaduração?
Enquanto no caso do Brasil a colonização deita suas raízes numa longa tradição de conquista ibérica, que, de fato, fazia não apenas do colonialismo, mas de toda a institucionalidade vigente de forma conexa à exploração portuguesa, como a escravidão e a monocultura, o certo é que com a chegada da família real e por causa da sociedade brasileira estar ainda distante da modernidade anglófila, os cidadãos podiam no máximo ser introduzidos ao tema referente aos direitos civis, bem assim, encontravam albergue
numa concepção do paradigma proposto com a industrialização, com o propósito primário de sermos introduzidos - para quem não parece satisfazer-se com o que ele denomina de uso anestésico da palavra, como em discursos, atas etc, mas sim ao que refere-se ao ato de citar a palavra sem precisar seu valor enquanto tenha peso no campo simbólico, sem denotar, no entanto, sua existência em tempos de guerra - (Eliot, T.S: 2011) -, pois, afora este último caso: em que opera uma noção proposta pelo teórico da destruição criativa, lugar em que se dá um processo que ocorre, segundo o autor –(Schumpeter, 1961), quando os capitais liberados do ciclo econômico, encontram, toda uma economia restaurar – por exemplo, depois de épocas de conflagrações bélicas, ou guerras mundiais; segundo neste contexto, na América Latina, assim como foi com a criação da CEPAL as economias recebem o capital que poderiam, senão quando integradas, mas, que, ao contrário, não busca canais de valorização financeira, antes, buscarão, na verdade, reconstruir novamente uma região destruída, através da consecução de atividades produtivas que se mostram rentáveis dado a necessidade de se edificarem as bases da sociedade novamente, numa ocasião que emerge nos anos 30 do século XX, o mesmo aspecto sintomático das declarações que correram o mundo após o Marco zero de 1776,, destacam-se, aí, fazendo-se mister notar, os direitos políticos, e encaramos, pois, o problema do desenvolvimento inicial dos EUA como uma razão histórica para revelar que a forma mais robusta de se encarar o fato básico do desenvolvimento, a saber, a redução das privações (conducente à expansão das liberdades individuais), indica não apenas isto, quanto a todas as consequências que se pode tirar de uma sociedade de homens livres, sendo este o ponto nodal de um discurso abalizado sobre a liberdade constitutiva da história latino-americana.
A idéia de conceber a economia mundial como um sistema estruturado, no qual o processo de difusão do progresso técnico e distribuição do excedente econômico seguiam determinadas tendências era o que determinou a longa vida da CEPAL, ou, que explica a incorporação dos estruturalistas, que vez por outra são rotulados como sociólogos - dado o caráter de suas asserções, quase sempre vinculadas a noções históricas provenientes de seu método “histórico-estrutural” -, como que apresentando uma novidade teórica importante, que será o tema do subdesenvolvimento, mas, lembremos, isto se deve menos ao fato de ter determinado um lugar no escopo teórico do subdesenvolvimento ao tema do desenvolvimento norte-americano e mais pelo contexto das guerras mundiais, como quer nos fazer crer Schumpeter. Assim, depois que, uma tal percepção de que o desenvolvimento será ele mesmo advindo dos meios com que se mobilizam os recursos pertence ao escopo da economia da pobreza, ramo novo da ciência econômica e cujo epígono é Amartya Sen, vencedor do prêmio Nobel de 1998, ao trazer uma noção mais direcionada ao pósguerra, a discussão teórica, segundo a forma como este economista faz a releitura detida de Adam Smith, diferentemente de Arrighi, Schumpeter, porém mais próximo de Marx, defendendo, que: o trabalho estava predicado pela liberdade econômica: esta liberdade nas relações de trabalho entre o patrão empresário (“entrepeneur”) e o operário, tanto fundava uma sociedade em que a liberdade estava na raiz do processo de produção da riqueza, e, portanto, na sua apropriação, como explicava a divisão social do trabalho como o fundamento da riqueza, a mesma interpretação equivale para o tema da
descolonização, assim, a independência implicava na liberdade em estabelecer e aceder uma vigência de acordos, ou tratados que, no limite, impunham uma nova configuração do poder mundial.
O reconhecimento da declaração de 1776, neste breve relato que perpassa três séculos de história da empresa ultramarina, posto que parte dos países baixos por exemplo, segundo David Armitage, teria certamente muito mais repercussão do que o caso da independência que descende da colonização ibérica, pois, no caso do Brasil, por exemplo, em que a declaração ocorre somente após a vinda da família real em 1808, as consequências daquela verdadeira revolução que é citada por Sen, à propósito da visão especialmente importante subjacente à revolução norte-americana, indica que a reprise latino-americana vindicada pela CEPAL, levou a uma releitura por ele proposta de Smith, simplesmente, por obra da difusão da declaração de independência dos EUA para o resto do mundo, inquestionavelmente segundo uma lógica puramente sobre uma forma de hegemonia, primeiro passo para estabelecer uma hegemonia norte-americana que se realizou ali, mas, a crença no seu próprio progresso material ganhou meios para se traduzir na prática em uma realidade com a ascenção de mais uma potência comercial, de maneira que o sonho americano de uma nação forte com saída para os dois oceanos, e unida em torno do comércio e de uma indústria pujante, pôde se realizar no século e meio após a declaração por causa de sua base nacional que privilegiava o trabalhador comum. o que não parece se aplicar ao Brasil com menor homogeneização da renda nacional.
Em outras palavras, as características próprias do governo representativo e do sufrágio, além dos direitos humanos, jamais estiveram por um momento adiante da noção de que a liberdade tinha um componente econômico. Afinal, será este o caso paradigmático do desenvolvimento norte-americano, causa da guerra-civil e base do federalismo que arquitetou a república nas treze colônias e sua unidade política no constitucionalismo tal qual enfeixada na convenção federalista de 1787. Se tivermos em mente a tradição iberica, que tivera o condão de liberar apenas o princípio político da autodeterminação, temos um princípio de autonomia em que há apenas a limitação do poder e de sua concessão atinente à sujeição da escravidão e, no primeiro caso, da liberdade em face do Estado-Nacão, existindo a depuração cultural do saber, utilitário, temos a liberdade de associação, a liberdade de agir, a liberdade coletiva como uma demanda realizada em finalidades individuais, enquanto na tradição ibero-americana, que advêm do catolicismo medieval, apenas o ideal, mas como trata-se de defender o problema sob a ótica de Marx, vemos que somente no após-guerra, os eventos prefiguradores da conotação a um etapismo em que existe uma liberdade e uma sociedade internacional vêm atuar sobre esta base totalmente alterada, causando estranheza que do ponto de vista da orientação de teorias incontornávelmente políticas Sen, liberal radical, se aproxime mais de amar que o próprio patrono da economia brasileira, Celso Furtado, bem assim dizendo, a expoencia maior do pensamento econômico latino-americano.
II – OBJETIVOS
Destacam-se em meio às suposições feitas a partir da crise da década de 1970 e após os insucessos militares no Vietnã, as teses gêmeas do ciclo de acumulação de
capital, elaborada pelo teórico italiano Giovanni Arrighi; primeiramente, Arrighi postula a sucessão de ciclos de acumulação de capital com base nos pólos de acumulação financeira (segundo a fórmula de Marx (DD´) – mas que sói ser entendida como um processo cíclico; ou ainda, como subentendido na tese da “sucessão hegemônica”, proposta por outro dos principais teóricos da ciência social contemporânea, Immanuel Wallerstein, que leva ao entendimento de que após o ciclo de acumulação de capital (MD´), quando estes são levados a se relacionarem aos ciclos de acumulação financeira, fizeram com que as forças centrífugas do poder monetário desencadeassem um processo de longa duração, que, depois de se utilizar das dádivas da natureza e fazer uma reorganização colossal dos meios de produção, já agora estão impedidas de seu prosseguimento no trilho de operações de escala ainda maiores, porque seu poder já não mobiliza os demais Estados capitalistas, sendo apenas mais um fator no maquinário que permite a sobrevivência deste modo de produção. (Fiori:2008, pág: 12-13)
Estas teorias entendem corretamente a unicidade do processo de acumulação descortinado por Marx, quando o teórico alemão deixava evidente no processo de reprodução do capital (M-D-M’), esta necessidade ontológica do capital sob as determinações da reprodução simples, e que será, pois, ainda mais evidente no processo de reprodução ampliada, o qual, repetimos (como dá a entender as teses gêmeas da sucessão hegemônica de Immanuel Wallerstein e as teses braudelianas de Giovanni Arrighi), leva-nos a indagações quanto às mudanças e permanências de hegemonia do sistema interestatal e de como os demais países, no caso do Brasil, coexistem com este paradigma. Para Meszaros, o fato é que como o mundo passa no último quartil do século XX por uma reestruturação do poder norte-americano, que deixa sua condição de país hegemônico no padrão de um poder consorciado, para uma governança global numa estratégia imperial nitidamente globalista, cuja maior novidade é a mobilização de um poder brando, essencial para a nova fase da sua acumulação, tudo isto não se dará apenas por obra de fatores econômicos, e aí retomamos a argumentação central deste trabalho.
A pergunta central que o orienta consiste nas forças históricas eivadas por estes direitos, ou desprendidas como formas de ser pelos ecos da declaração no mundo atlântico quando abordamos que: estes acontecimentos a serem regidos por fatores relativos e tendenciais, quase sempre questionadores da ordem vigente, não impede que indentifiquemos nas manifestações mais pueris da ordem mundial, uma nova configuração do poder mundial, como faz Meszaros, ou devemos, considerando os chamados estruturalistas latino-americanos, por um valor teórico progressista, o que é inegável conforme a contribuição original dos economistas cepalinos, exatamente como vieram a oferecer a principal temática abordada pela intelectualidade, incluso a diplomacia do “terceiro-mundo”- moldando uma forma inovadora de se encarar as questões das relações externas de grandes países da América Latina, encarando, ao surgir, primeiramente, em torno a um grupo de países que não desejavam mais submeter-se aos ditames da ordem bipolar, os quais, em última instância já perfaziam a maioria formal nos assentos da organização das nações unidas (ONU), o estatuto das potências médias? Não teria sido primordialmente este, entre nós, o enredo que de nossa
parte, isto representará o fato principal para impulsionar a contínua autonomia e uma política africana do Brasil?
Voltamos a atenção para a universalização das relações de produção, pois, Furtado procura no capítulo I "Poder e espaço numa economia que se globaliza" simplesmente, pôr em relevo aspectos destas relações internas a uma estratégia nitidamente globalista dos novos atores no sistema interestatal. Dentro dele, o Brasil exerce papel de liderança regional, inclusive porque, mesmo com a chancela dos Estados Unidos da América, o poder nacional, estivera impedido durante os decênios anteriores, a contrapor-se a estas tendências vertiginosas da nova tirania em que, adentram as novas linhas do autoritarismo, postas a funcionar pela globalização. Portanto, o foco deste trabalho, se está mesmo relacionado ao tema da alienação em Marx, ou da teoria do valor em Schumpeter, depende do conceito de modo de produção, da historiografia econômica desde o século XIX (Ver, Weber, 2004 - Pág 173-174), ou ainda em Habermas (2010), em que o autor Frankfurtiano alinha suas teses do neofuncionalismo sistêmico a teoria econômica de Joseph Schumpeter, principalmente em suas linhas mestras no tocante ao ponto em que este autor relaciona crédito, capital industrial e massa salarial no prisma do aumento da produção total. (Ver, Habermas. J, 2010, Pág 775 apud. Ou Schumpeter: 2017). Poderíamos, nos trópicos, ainda que ambas as influências fossem de alemães, e em um primeiro momento desta fornada seja uma temática jurídica, buscando inicialmente, em texto que trazia a tona que, tais questões, tais como estão atualmente vinculadas ao tipo de experiência social de uma vida socialmente fraca, permitiria, já que numa condição de uma modernidade tardia, fazer textos de vanguarda, o artificio do estudo retorico tem ampla repercussão, sobretudo quando tomadas pelo itinerário de Celso Furtado - colocada lapidarmente na sua obra “Ares do Mundo” a qual será sempre forjada por insights sobre os intelectuais orgânicos de Estado -, vemos que a questão leva a inquirição sobre a base dos fundamentos da ação politica, mas quando, chegar-se-á mesmo por seu escopo, o de Celso Furtado, “in nucce”? De outra forma: se o efeito, através de Habermas e os Frankfurtianos, da episteme do tema de os “ares do mundo” parece proscrito, pois no que este eminente escritor estruturalista respondia no seu discurso sobre a nação, onde a noção que, mesmo por ser seu léxico semântico sobre o laboratório do após-guerra, ser primordialmente moderna, ou estatista, quando poderiamos responder por que algumas considerações sobre o papel das Nações Unidas e o desenvolvimento econômico nos anos 1960, pudessem, se cruzar, numa análise nestes tristes trópicos, pela noção de pensamento desenvolvimentista, sob a otica jurisprudencialista das chancelarias é isto o que ocorre -(ver Harvey; 2013: Pág 177, 332), pois, por este requisito tomado no repertório científico dentro do Itamaraty o qual, em seguida, demonstrando, assim, para entendimento da questão destes períodos propostos nos marcos teóricos ante a temática do desenvolvimento, se a noção (sic) de uma “cultura da inovação”, poderia historicamente lançar luz até a hipótese desta cultura da inovação aderir às manifestações culturais no território, aparentemente o dilema somente ser-lhe-ia restaurado, após tal periodização histórica, que retroage no amplo painel traçado, após esboçar-se as grandes temáticas do desenvolvimento daquela época, quer seja no
terceiro-mundo, ou nos rincões da Europa do Leste desde que sob a linha obscurantista do capitalismo do após-guerra.
Meu objetivo, considerando o tratamento da análise estrondosa de Marx nos quatro primeiros capítulos de sua obra mestra, ao vindicar que, na contemporaneidade, o problema da diversidade cultural deve ser enfrentado de alguma forma, pois, ao mesmo tempo, a promoção da inovação pressupõe uma certa noção de cultura, chamada de “cultura da inovação”. Pergunta-se então: até que ponto a noção de “cultura da inovação” está relacionada às manifestações culturais que ocorrem nos territórios? Pretende-se estudar se a noção de uma “cultura da inovação” adere às manifestações culturais no território. Para tanto, algumas questões são colocadas: o que significa inovação e qual o conteúdo da noção de “cultura da inovação”. Compreender o significado da noção de “cultura da inovação”, em face do tema da diversidade cultural. Como analisar os fundamentos teóricos que subsidiam a formulação de políticas de ciência e tecnologia e seus instrumentos de política, ou mesmo o desenvolvimento, sem analisar as políticas públicas de ciência e tecnologia voltadas para a promoção da cultura da inovação, ou mesmo, analisar as políticas de ciência e tecnologia voltadas para a promoção da inovação no Estado se os pólos em disputa na administração do Estado no Brasil, são manifestações culturais que confrontaram este otimismo latente, que o discurso cepalino apresentava, basicamente, por ser uma explicação sobre a desigualdade internacional, e não um discurso sobre o desenvolvimento interno de nações específicas?
De um lado, se os marxistas denominam de corifeus e, neles apontando - no que sua análise autorizada, costuma se valer da retórica - quando, estes estadistas, ainda quando encarassem as economias como viáveis, e não tanto pela formação de uma lógica política do chamado terceiro mundo, mas, conquanto, confrontando a perspectiva cepalina, que, as encaravam como economias reflexas, respondiam antagonicamente ao otimismo de que a América Latina, pudesse ficar sem ter seu futuro impedido, seja por suas divisas poderem contrabalançar o poderio do hegemon, ao encontrar o caminho dentro dos movimentos cíclicos dos países ricos, um lugar ao sol na geopolítica da guerra-fria, seja porque, levando, de certa forma, a absorverem progressivamente um caráter permissivo das relações entre os Estados, mas, “et pour cause”, sancionar na arena global o fato da região, continuar a ser condicionada nas repartições publicas desde seu enfoque periferico, pela idéia de conceber a economia mundial como um sistema estruturado, permeado pelo processo de difusão do progresso técnico e distribuição do excedente econômico e que deveriam seguir determinadas tendências, mas que era o que determinou a longa vida da CEPAL (Hirschmann: 1982), levando a continuação do thriller que os marxistas reencontraram-se com as teses do antiimperialismo, fazendo, de outro lado, com que, ao lado destas figuras-chave da história brasileira, deveras, cedessem lugar à atuação proeminente de uma diplomacia independentista e que fizera, do Itamaraty, um lócus de pensamento rival ao predomínio da concepção de fazer do processo de decisão em matéria de politica externa brasileiraPEB.
Assim, como que, por ser, subserviente aos EUA, como se a modernidade ocidental fosse aquela predominantemente cindida pelas diferenças econômicas
advindas da escravidão, consagrassem, neste ímpeto, já que, históricamente redundassem pela lógica regresssiva da ordem de estados modernas, ate uma segunda periodização, após o momento em que as teorias surgidas nos termos do modelo centroperiferia passaram a questionar a inexorabilidade deste “vir-a-ser” moderno, vemos,, ao contrário, surgir na altura da década de 70 do século XX, uma nova configuração teórica que aplicava a base de dados da história, incluindo o regionalismo, para entender a industrialização, por fatores internos da dinâmica econômica, como a tese do “capitalismo tardio” de João Manuel Cardoso de Mello e, que se fizeram presentes, pela otica liberal, a partir de uma fase em que se verão diante da influência da necessidade de um pacto social entre as classes industriosas e o proletariado, com o que se aproximaram da estratégia marxista, gerando uma visao de que: ao entender a ressonância deste discurso sobre a nação que se forma na região latino-americana a partir do momento em que se leva a cabo o desenvolvimento nacional, vale dizer, a ideia-forca do modelo centro-periferia, as teorias que o receberam de certa forma veem com problemas a viabilidade do capitalismo no Brasil, de forma clara e categórica, pois o fazem se valendo de uma critica ao modelo da Comissão Econômica Para A América Latina e Caribe.
Estes três fatores na equacao dos cálculos políticos dos atores externos se destacam no amplo painel histórico que é formado pela chamada "era de ouro do capitalismo", sobretudo no modelo de desenvolvimento do modo de produção deste capitalismo de Estado tais como apontados, pois, como Constantes Grocianas do direito internacional, da qual seguem-se normas jamais obliteradas como fluxo cambial normal, transações e comércio; a pluriversalidade, ideia veinculada pelas forcas destes vetores de projeção do poder brando a partir do entendimento que buscavam visualizar a vocação dos países baleias, em que, as soberanias, uma vez asseguradas pelo artigo 48 da assembleia geral da ONU, desde os acordos de Roosevelt e Stálin, por fim, após Yalta,, assim, na temática jurídica acabar por sobrepor-se ao discurso do nacionalismo de fins (Lafer, 2004), nela, a temática jurídica se sobrepõe ao discurso do nacionalismo e ao processo de formação da república.
Meu objetivo, portanto, retroage no enquadramento historico o que, considerando paulatinamente o que a permissibilidade das relações externas, que, desde esta época encerravam alguns aspectos internos de política nacional, dentro dos quais também se destacam, como, por exemplo, a delegação de poderes, atualmente superada já a fase de resistência, quando admite-se como fator formal de delegação, segundo o que, este seja limitado no tempo, a saber, os poderes ao executivo, decorrendo-se daí três características institucionais: que os que temem a delegação temem os efeitos da delegação não a recusam totalmente, sustentando porém que a atividade é delegação temporária de prerrogativas; ainda, sustenta-se normalmente que, por fim existe a necessidade de transferência constitucional de competências, normatizando um grau de temporariedade aos cargos democráticos; e, por fim, a eletividade, em que, na república o chefe de governo é eleito pelo povo, não se admitindo sucessão hereditária e responsabilidade, vemos que este tipo ideal de concertarão teórica tem sua função heurística historicamente, na ideia-forca cepalina, anteriormente, colocado como um panorama em que o Brasil se situa com o pensamento independentista, tendo como
centro a arena internacional, náo obstante, isto se evolver num quadro mais amplo em que as relações sociais de produção no mundo do atlântico somente podem ser determinadas, por categorias da morfologia social, obviamente, nos aspectos externos e que determinam relações entre habitantes; quando, o estudo do fato social, portanto, passa a ser estudo por meio de abstrações, que têm vínculo com a realidade apenas como ''coisas teóricas'': a densidade populacional, zona rural-urbana, e composição da população - como, tal, na qualidade de coisas teóricas, a estas coisas se relaciona "objetos empíricos", hodiernamente, apenas, uma explicação de morfologias não basta, mas explicações da distribuição e processos de desenvolvimento, daí o questionamento inicial de saber em que se traduz a prática inovativa no contexto do capitalismo, em tese perguntando acerca da cultura da inovação na modernidade do modelo de regulação fordista.
Diante desta lacuna apontada por, Carneiro(2006_a), em que, sobre o conteúdo da cultura da inovação na modernidade, nesta introdução poderia ser apontada, retrospectivamente, quando se pode entender deste tipo de ação social sob os indivíduos no que tange acerca ao ato de inovar, e o fazemos lançando mão da pergunta sobre qual categoria seria operada pelos teóricos da modernidade que, no terceiro-mundo aprofundaram o esquema da cultura dentro do moderno capitalismo industrial, mas quando, dela se destitui sua base normativa, mesmo quando os atores tem uma perspectiva distinta do Estado, numa segunda fase, do industrialismo global. Notemos que a centralização do capital corresponde a uma realidade dificilmente constrangida por normas dada o imiscuir da tradição inglesa, mais alem, se, para os Schumpeterianos, diferentemente de seus antípodas, com base no entendimento de que se pode aliar esta percepção, sob a linha obscurantista do capital, a saber, a de que o desenvolvimento, ser-lhe-ía advindo, dos meios com que se mobilizam os recursos, por si só ainda deslocada no tempo, pertencente ao escopo da retórica em economia, vemos que esta disputa pelo aparelho do Estado nao e nada nova, dentro desta tradição; mesmo que ambas as visões sobre a utilização dos bens econômicas se confluem, num viés da ciência econômica, a um certo otimismo quanto a isto que estes teóricos, considerandose o apanagio dos atores sociais dentro das relações sociais de produção quanto as raízes daquela força da industrialização substitutiva que a CEPAL, parecera apreender como um vetor progressista, ante aos quais a pergunta sobre o termo final de uma norma que dota ao sujeito, no sentido deôntico. (FURTADO; 2012), quando, para Sen, sendo este o ponto nodal de um discurso abalizado sobre a liberdade (que ele chamará de liberdade substantiva), envolvendo as chamadas liberdades substantivas, nestas suas relações empíricas relevantes, além de mutuamente reforçadoras, estamos diante de um fato importante, e na medida mesmo em que estas inter-relações signifiquem capacitação dos agentes (SEN, A; 2011: pág 18) - o que, numa condição que os habilita à liberdade num sentido que lhes suceda um contentamento - então, nas relações constitutivas do contrato-social,teoricamente, o veio teórico do neo-desenvolvimentismo se forma pela liberdade individual, ou esta representará um ganho paretiano para o desenvolvimento, a partir pura e simplesmente, da obra da modernidade? Para cienfiticializar a questão central, conferindo rigor analítico ao problema da cultura do desenvolvimento, tratandose dos móbeis simbólicos que articulam a questão das nossas relações externas aos
dilemas do desenvolvimento da indústria, poderíamos inquirir, novamente, da mesma forma, valendo-se dos teóricos como Schumpeter (1982;2017), ou Marx (2007), para saber, se, na origem de concepções otimistas com relação à acumulação de capital na periferia, conquanto a analise que predicava a razão para o otimismo epocal desde o fato de continentes como a África, mesmo depois das independências, estarem sob o influxo das monstruosidades da escravidão, quando devemos perguntar, por que a condição “pós-colonial”, ou melhor, qual a razão do otimismo do modelo centro-periferia, encerrado nos planos nacionais de desenvolvimento, se, para os teóricos de antanho, o fator de como julgava-se superá-la, fazendo-se mister notar que somente poderia dizer isto se concordasse com a descrição prímeva do desenvolvimento desde uma ótica liberal, poderia se estabelecer a partir de uma critica ao otimismo reinante, percebida de ambas as orientações, segundo uma mesma fonte teórica?
III - METODOLOGIA.
Ao apresentarmos na seção inicial deste artigo que, de um lado, assim como no contexto do crescimento desigual, o instrumento retórico impõe a categoria desenvolvimento a uma força ou elã vital no mundo das trocas no contexto econômico vigente desde o concerto europeu, cujo esteio seria o próprio e difuso sentimento da cultura da inovação na atualidade, impressão esta comprovada pela organização teórica do escopo da análise de autores que permeiam o debate nas Organizações das Nações Unidas, para alem da CEPAL, tais como, Sen, que, em “desenvolvimento como liberdade”se ocuparia em traduzir em emponderamento, porquanto relativa, ao tipo de crescimento nominal do produto interno bruto, dado por indicação da estratégia de catch-up predicada por sua análise, curiosamente a analise que retroage prefigurara naquele tempo se traduz, ao inverso, quando ocorre a polarização, para postular, somente quando entendermos que ao argumentar que a batalha contra a privação de liberdade existente no trabalho adscritício é importante em muitos países do ‘terceiromundo’ hoje em dia por algumas das mesmas razões pela qual a guerra civil americana foi significativa” (Sen, 2011: pág 21), quando, não se aduziria daí, o que sabemos que não há muito sentido em ser genericamente contra os mercados, talvez nos dias de hoje, porque seria como ser contra a operação da lei da oferta e da demanda, mas, o quê fazer quando, destitui-se o Estado de seu papel de universalizador dos direitos sociais, contrários a perspectiva desde Rawls e Habermas, que é a estratégia de sua concepção alinhavada nesta sua obra por Furtado?
Primeiramente, buscando uma apropriação objetual do mundo estranhado (Habermas, 1984), portanto, aqui, se dá porque a cultura enquanto momento do “sersocial” – se, ao tomarmos como exemplificação das faculdades do entendimento, nos três casos que, como analiso, enquanto um saber histórico -, “status-quo”, impetrasse ao movimento “cultura”, a sua centelha que, entendida como algo exatamente atinente a uma psicologia de massas – no caso, religião, ou ainda, quando o ser-moral conformasse um estatuto real, portanto, superestrutura filosófica, política e ideológica, abarcando esferas prestes a se autonomizarem, sendo este o caso que chamamos a atenção, e, por último, como superestrutura ideológica, funcionando como “falsa consciência”, o que,
quanto a este ultimo ponto, parecera improdutivo ja que o discurso economico, se, tais elementos fossem, ao menos, tomados pelo teórico desde um modo em que esta mesma esquerda europeia,ab-rogou-o a uma querela da virulenta democracia de partidos, que fazer?
O que tanto em relação ao que está a ocupar os autores da ideologia alemã, quando o comunismo (leia-se os atuais gestores do modelo supra-nacionalista europeu de estirpe trabalhista que olvidaram nos laboratórios do desenvolvimento pela planificação do terceiro-mundo) o que se avulta deste problema de sua derrisão ética, que, se bem o fora era a mesma disposicao teorica numa ocasião em que Furtado, buscava entender em sua obra de maturidade desde o mito do desenvolvimento econômico como o trem do progresso moderno se descarrilhou do século XX, sem que nesta indagação retórica nos remetêssemos ao problema do jovem Marx, o qual, ante a um problema epistêmico, sendo bem está sua investidura, na sua natureza ontológica, guiara para longe as teses da escola de Frankfurt, do escopo da economia política, Se, como o fizemos anteriormente, na introdução, ja que, tenhamos nos acercado, como meta de exposição ante o tema do capital e sua metamorfose através da inovação, num mundo em que tal apropriação se dera a partir da herança capitalista inglesa, a atitude de inflexão marxiana, pareceria impossível, desde que revolvida em seu espasmo inicial num encontro jamais abstrato, na revolta dos camponeses silesianos, entre o filosofia e a realidade, pelo pensador, ao que lhe seria caro apenas quando situasse um período novo na história do comunismo, o que para a tradição utópica de Habermas se denominará pré-história da humanidade, mas que, atualmente pretendemos apenas considerando as repercussões do discurso cepalina e sua recepção, um ponto limítrofe intangível por Furtado, porém extremamente abstrato ao tema das sucessivas gerações da escola de Frankfurt..1
Meu objetivo ja era em todo contrario e jamais impeditivo pela ótica ontológica, pois, pimeiramente, exatamente, porque coubera aos primeiros delegados da Conferência da Pensylvânnia, da qual faziam parte naquela ocasião (1775), políticos de envergadura, os quais, para promover a inflexão para o pensamento geopolítico, quer seja porque esta assembleia não terá sido apenas uma soberba formulação de um republicanismo, quer seja porque não apenas enquanto uma tendência da época que
1 l Como que este “ismo” naquilo em que a economia, este “ser de complexos”, se referira à pergunta sobre qual a origem da dialética materialista desde os albores da modernidade, represando normas a partir de quando isto se dera no momento de uma crise capitalista internacional no século XXI, atualmente, permitirá - segundo expressão conhecida - quando, consagrado pelo termo nada retórico de Gyorgy Lukacs - nesta ocasião, a saber: “post-festum”), pode ser recobrado pelo veio do discurso do desenvolvimento economico, por sua disruptiva tela atual: eis que o virtual, sem o antagonismo com o real, por uma inovação qualquer, eleva o tom da crítica a eoria, por certo, que, jogando papel de destaque, como na obra o capital, que isto se dá pela reconstituição de autores como: D´alembert Matthew Arnold, Diderot, Adam Smith, Jeremy Bentham, Condorcet, Saint-Simon, Auguste Comte e John Stuart Mill, em que, dão vida a temas jurídicos sistematizando o cabedal teórico da dominação, algo que, como nos esforçaremos por demonstrar, o esforço de Marx no Vorwarts, era realizado pela otica da formação dos estados territoriais, que intervêm na história sempre desagregando as ligações históricas, que, antes que se perdessem nos desvãos da história, procuramos aclarar por uma metáfora elegante tomada de Schumpeter que é a “destruição criativa.”
emergia a realização de trocas e o auferimento de ganhos de mercado, a modernidade triunfasse, estes publicistas, exatamente porque o direito à plena existência como unidade política livre de cidadãos livremente associados, fizera com que uma mesma interpretação se equivalesse para os demais países sob o refluxo da descendência ou queda do poderio Inglês, quando mais não fora porque a independência implicava na liberdade em estabelecer e aceder a vigência de acordos ou tratados que, no limite, impunham uma nova configuração mundial do poder disperso em uma soberania compartilhada. Daí que, então, entende-se que o fim da escravidão talvez fosse o maior evento do fenômeno captado pelo historicismo: antes deste passo teórico pela historiografia econômica, porém, pelo que, sua derrisão ética se reproduz, em negativo, ou seja, jamais como uma otica normativa a ser obliterada, senão que se forja depois da independência, por teorias distópicas.
Afinal, uma solicitação da base econômica tal qual vindica o marxismo em seu método essencialmente, nao perfaz as leis ai reproduzidas aquando do reconhecimento da declaração de independência de 1776, simplesmente por ser avant-la-lettre, como vimos, tudo isto teria, certamente consequências daquela verdadeira revolução que, autores como Sen (1998), apontaram como uma declaração de promessas de um novo mundo, será a crença no progresso o que se tornaria um meio para se traduzir na prática em uma realidade com a ascenção de mais uma potência mundial, mas, claramente, vem referenciado de maneira que o sonho norte-americano, de uma nação forte, possibilidade aberta por ser um território com saída para os dois oceanos, se unisse em torno do comércio e de sua indústria pujante, podendo, assim, realizar no século e meio após a circulação da carta de independência, primeiramente reconhecida pelos PaísesBaixos, o constitucionalismo tal qual enfeixada na convenção federalista de 1787, como um projeto de poder. Isto está interiormente em desacordo com a noção de Marx como falsa consciência, ao menos quando negativamente dela nos acerquemos em sua resolução conflitiva no debate historiográfico, mas, principalmente, nos mecanismos internacionais dos vetores, em que, diacrônica, por si só,, transmutava-se dentro de uma indagação coerente pelo estruturalismo sobre a relação entre Estado-GovernoSociedade.
Como entender, assim, que: as questões referentes à formação histórica da economia neoclássica, a partir de uma transmutação da forma mercantil pelo triunfo da idéia de um mercado auto-regulador, por obra do indivíduo enquanto pedra-de-toque, numa fundamentação de um discurso na modernidade que abdicara da noção de classe social e estrutura histórica e científica, implica em dizer que esta história, como mais que mera narração de fatos, indica que a história da análise econômica, enquanto apresenta o método histórico-estrutural no entendimento do capitalismo como fator predominante, cede espaço, com a globalização, ao que fica conhecido como a história da modernidade política, nesta, se o discurso econômico centrado numa teoria que remete-se ao método de Weber, leva, a historicização do problema democrático, cumpria-nos notar que sua inovação no mundo atlântico - desde que, ao determinar que este postulado enfrenta dificuldades que estão encerradas atualmente no discurso científico, propriamente chamado de problema do instrumentalismo moderno - não teria
sido porque se entende que o indivíduo maximizador é uma categoria reducionista, mas o modelo de desenvolvimento se distingue de sua formação como modo-de-produção?
A concepção está dada, retoricamente, porque, o modelo de crescimento endógeno, sendo dado, pelo fenômeno cíclico, se deixa ver, quando neste percebe-se, como seu fundamento, difundido teoricamente a partir de casos, em que, existe a percepção de uma falha congênita no liberalismo, pois a crise passa a ser exógena, com amplas consequências, e insere, o entendimento do ciclo como uma destruição criadora, vê-se que o realismo desta noção de indivíduo econômico é utilizada como apanágio supostamente de um mundo jamais superado. Mais além da emergência de uma potência Norte-Americana, autores como Celso Furtado, que entre nós teve o maior destaque no entendimento dos fenômenos econômicos a partir de uma historiografia sobre o capitalismo, em que, ao economista cabe o papel de escrevinhador de uma história atípica, auxiliar do príncipe, entende-se que o responsável pela aplicação do método histórico na economia indica que o problema da acumulação se estabelece por si mesmo, assim como, restava-lhe, pois, determinar qual a tradição ou método que fosse o mais acurado, para apreciar a evolução das economias nacionais após a revolução keynesiana, no entanto, o caminho do liberalismo, foi inverter os dados desta elocução weberiana, a de que a objetividade se fazia por constructos para daí chegar a explicar os dados da realidade por similitude, lançando mão de um mal entendido, quer dizer, de que a economia neoclássica como um método de economia positiva, sem quaisquer interferência do mundo das técnicas sobre a sociedade, explicava o mundo econômico das firmas, das unidades econômicas familiares, mas que, no entanto, tomava como um dado a divisão internacional do trabalho, o que está nas origens dos modelos cíclicos endógenos.
Porém, nem sempre foi assim, pois, de um lado, é certo que o patrono da economia brasileira seja responsável direto pelas consequências de se adotar uma noção de realismo tal qual estruturado na separação descartiana, e seria irrefletido a posição de contrariar os postulados básicos de seu arcabouço teórico, após o triunfo do nacinonalismo enfeixado nos governos que passariam a lançar mão do método keynesiano, porém, deste modo, considerando autores tão distintos no campo do discurso econômico moderno, vê-se que o problema da apreensão do real é mais derivado de uma análise historicista, ou melhor, da forma como se dialoga com os clássicos e que, segundo Furtado permite, então, ao individualismo metodológico, de ordem Weberiana, o constructo, dado básico da hermenêutica, mas que, o liberalismo acabou por olvidar, a partir dos teóricos citados no movimento que está nas origens do pensamento econômico de fronteira, a partir da primeira aparição de Schumpeter quando, então, se busca solapar, de outro lado, o fenômeno em que tudo isto se radica, a saber: o mundo da tecnologia, em que, para os liberais, a tecnologia passa a ser – não que seja, evidentemente, algo afora um fator interveniente no cabedal da produção senão como meio, jamais como fator produtivo tão importante, e cada vez mais importante, até mais do que o trabalho -, o por quê, do ponto de vista do liberalismo, se valer da existência do trabalhador, a partir dos modelos do entre-guerras. passam a considerar a técnica como algo que deva sempre se ajustar ao mundo das trocas, como algo que permite postular não apenas que o capitalismo cria porque destrói, não obstante
o seu estatuto individualista canônico, que a modernidade permitiria vicejar dado a extirpação de todo o mundo tradicional, note bem, uma tese Weberiana, levando, sob a forma do individualismo metodológico, ele próprio de origem nas tipologias de ação social proposta por Weber - gerando o progresso espiritual, social, econômico, político e cultural, a uma teoria do progresso, uma verdadeira epopeia do pensamento que elide as bases do historicismo, levando a crise das narrativas, como em Hobsbawn (2008).
Na metodologia, veremos sob a forma de tratamento da base de dados que sugere a comparação com o capitalismo tardio desde uma ótica espiralar do mais simples ao mais complexo, do mais concreto ao abstrato, enfim, segundo a fórmula lapidar de para a contribuição da crítica da economia política, da população à sociedade, formando um complexo em que a inovação é fruto não do cânon, da teoria, mas das condições concretas de vida que permeiam suas soluções de continuidade, cujo continuum do tempo assinalou ao nacionalismo uma categoria ossificada, as quais também se ossificaram com a tradição do volk, ganharam novos atores nos século seguintes, com a transformação do capitalismo, redimensionado pelo domínio dos Estados Unidos da América (EUA), numa base que a ideologia retroagia em sua simetria com os acontecimentos do pós-guerra, consequentemente. Ao falar em colonização do mundo da vida, como, Habermas, que, por seu turno, cujo trabalho fundamental é o de continuar a tradição da teoria crítica, inovou em termos de discurso metafísico, postulando sua descontinuidade na tradição, o que reverberara em sua teoria do Estado, não somente por obra do mundo oitocentista em que se apoiava Benjamin, que, como dissemos, fizera de sua apropriação do tema do fim da obra de arte em Hegel, levando ao fim do moderno estatuto do conhecimento não somente empírico como abstrato, pelo desvelamento da revelação de sua falência, tanto do discurso com acesso ao fundamento e posicionando a nova teoria dialética sob a teoria do mundo da vida em sincronia com a tradição política - já agora posta a operar em sua autonomização sistêmica, através do conceito sistêmico, não obstante, sua incorporação das teses pós-metafísicas, renovando o marxismo - (Habermas, 2010). Ao final, ficará claro, que autores como Mccloskey denominassem nem mais nem menos, retórica da economia, tudo o que nas visões deste debate, tem comoresultado o soerguimento de narrativas estruturais deste mundo, fazendo da aplicação de suas teorias resultantes a este mundo como modernismo refere-se ao significante, quando mais não fora, porque somente após tal periodização histórica, que retroage no amplo painel traçado, após esboçar-se as grandes temáticas do desenvolvimento daquela época, quer seja no terceiro-mundo, ou nos rincões da Europa do Leste, pretensamente vinham sendo abordados a partir da teoria Schumpeteriana do empresário inovador, e, aqui, novamente, superando a superficialidade com que se trata o assunto na teoria da dependência, sempre buscando tratar das ideias Cepalinas, veremos, algo que, diante da Comissão Econômica Para a América Latina e Caribe (daí o nome cepalinas), se pudesse finalmente, indicar as linhas argumentativas, diferentemente das regiões desenvolvidas, nas quais se ía promovendo disparidades crescentes, ao invés de uma homogeneização da produção e apropriação da riqueza mundial, colocasse em relevo, como fator primordial nessa dinâmica algo que seria o fato de que a produção industrial apresentava “vantagens comparativas dinâmicas” em relação à produção de bens
primários. Mas, qual o objetivo que levara esta transformação na esfera pública, trazendo, a partir desta mesma agência da Organização das Nações Unidas destinada a contribuir com o desenvolvimento econômico, a CEPAL, a compreender o conceito de cultura da inovação, indagando acerca da importância da cultura da inovação no contexto da modernidade, já que igualmente, torna-se lícito perguntar em que sentido ambas passavam a ser vistas como reforçadoras(ARMITAGE, 2011)?
Obviamente, claro está que teoricamente numa comunidade de leitores, ou mesmo que o falante reivindique a si uma determinada posicionalidade, não fica constrangido pelo espírito ao governo de uma personalidade ou estrutura cognitiva apensa as relações de poder como a encíclica acima parece aquiescer ou coalescer a partir de uma ótica estado-centrica, aliás, não existiria governo capaz de domar à mente humana, pelo dever, por mais que seu personagem se desvie do que se pode autodenominar de ação regrada de um bem-viver; no entanto, todo mal é impedido de agir quando sentimos e agimos em uma esfera ética ou quiçá afetiva, pelo menos enquanto a ação depende de si. Mesmo o nada a fazer, se pensamentos se transmitam por áreas afins ou eletivas ao escopo do teólogo, nada se presta a sua indução ou algo semelhante a uma interpretação a fórceps determinada pela leitura.
Se isto quer dizer que somente escolhemos debater o tema da economia pela ótica dos papéis efêmeros porque a narrativa histórica, o ponto de ruptura, sendo mesmo o fulcro do personagem Georg Castorp, recebe aporte desde o entre-guerras, pela ótica não apenas da visão das chancelarias, mas, o quanto menos antes ela tenha se transcorrido, ou seja, a vida do personagem, dado pelo fato de ser vivenciada por ele pela força do presente que não se esvaiu tanto quanto a história do contexto em que ele viveu, faz da sua história o ponto de profundidade, perfeito e maravilhoso, para reconstruir o cenário, desde que ao reconhecimento da declaração de independência de 1776, tendo os atores posicionais na dinâmica social, pela obra Habermasiana (2010), ou como que, uma vez eivados a partir das elucubrações liberais, na esteira de Rawls (2011), teria, certamente, consequências daquela verdadeira revolução que, autores como Sen (1999), apontaram como uma declaração de promessas de um novo mundo, assim como a crença no progresso se tornou um meio para se traduzir na prática em plena realidade da ascenção de mais uma potência mundial, desta feita sob a mesma forma com que o sonho norte-americano, de uma nação forte, possibilidade aberta por ser um território com saída para os dois oceanos, ocorresse no Brasil - quando mais não fora, porque fosse o caso em que a partir daí, se unisse em torno do comércio e de sua indústria pujante, os países do terceiro-mundo . A sociologia como se vê é uma ciência que estuda os fatos sociais, um meltingpot conceptual que reúne o ajuizamento - que é a consciência que julga o valor de uma configuração desta coisa, sua morfologia. A questão central e que confere rigor analítico ao problema da cultura do desenvolvimento, trata-se dos móbeis simbólicos que articulam a questão das nossas relações externas aos dilemas do desenvolvimento da indústria no Brasil. Portanto, tudo nos leva até a origem de concepções otimistas com relação à acumulação de capital na periferia, e a razão para o fato de continentes como a África, mesmo depois das independências, estarem sob o influxo das monstruosidades da escravidão, quando devemos perguntar: o que é a condição “pós-colonial”, e como
julgava-se superá-la? Somente quando, ensinados a como tratar temas acompanhando a forma de evolução das economias mundiais, ou melhor, a estagnação de continentes inteiros, longe dos quais se faz o desenvolvimento em cada vez menos ilhotas de crescimento econômico comprovado, ao remembrar os nexos intersubjetivos do discurso cepalino, se pode aliar esta percepção, a saber, a de que o desenvolvimento será ele mesmo advindo dos meios com que se mobilizam os recursos, por si só ainda deslocada, e que pertence ao escopo da economia da pobreza, ramo novo da ciência econômica e cujo epígono é Amartya Sen, mas que deita raízes na força da industrialização substitutiva da CEPAL. Por ora, cumpre notar, que, segundo Adam Smith o trabalho estava predicado pela liberdade econômica e a liberdade nas relações de trabalho entre o patrão empresário (“entrepeneur”) e o operário, o que tanto fundava uma sociedade em que a liberdade estava na raiz do processo de produção da riqueza, e, portanto, na sua apropriação, como explicava a divisão social do trabalho como o fundamento da riqueza. Se, posteriormente a questão do socialismo tornou-se premente nas sociedades Européias terá sido porque os movimentos operários foram levados a contestar a distribuição da riqueza, mas fica em aberto o fato de terem posto em xeque a forma mercantil do trabalho [assim como Marx denominava a mercadoria] porque a explicação da riqueza das nações com base na liberdade econômica ficara patente não apenas na disposição da força de trabalho, mas também no ethos das sociedades modernas, o qual jamais foi derrubado, ao contrário, no após-guerra o discurso socialdemocrata incorpora de bom grado o socialismo jurídico presente no despertar da participação operária nos acordos entre o capital e o trabalho, quando, para Sen, sendo este o ponto nodal de um discurso abalizado sobre a liberdade (que ele chamará de liberdade substantiva), pois, envolvendo as chamadas liberdades substantivas, nestas suas relações empíricas relevantes, além de mutuamente reforçadoras, estamos diante de um fato importante: na medida em que estas inter-relações signifiquem capacitação dos agentes (Sen, 2004: pág 18) – numa condição que os habilita à liberdade num sentido que lhes suceda um contentamento, então, a liberdade individual representará um ganho paretiano para o desenvolvimento, não obstante Celso Furtado, que teria neste autor ainda estivera sob influência do utilitarismo clássico, quando dizia - e é verdade que somente poderia dizer isto se concordasse com a descrição prímeva do desenvolvimento desde uma ótica liberal, que o estado ótimo de uma sociedade aquando do processo de crescimento é atingido a partir do momento em que o prazer de um indivíduo aumente o bem-estar geral sem prejuízo ao coletivo, posto isto, até que, nesta descrição liberal do estado estacionário, o aumento de prazer de um indivíduo não implique numa redução maior no bem-estar de outra, ou que acabe também por terminar na redução da sua própria satisfação individual por causa deste impacto negativo, estivéramos diante deste teórico no auge do neoliberalismo e mesmo em um terreno da formulação teórica que impõe um significado específico da razão da eficácia: a importância das transações, mercados, e privação de liberdade, sobretudo porque representou um fardo para milhões no “terceiro-mundo”, exatamente, porque seriam falhas constitutivas da liberdade econômica quando os países em que viviam sob o regime neocolonial, os coagiam a uma espécie de cativeiro (o trabalho remunerado em víveres nas próprias plantações de
café, junto às chamadas “vendas”, como decorre da análise de Lafer - (Lafer, 1982; Lafer; 1993).
IV - CONCLUSÃO
Defender a idéia de que o papel da liberdade neste ponto é maior do que o papel puro e simples da tradução em sua formulação política representativa. Em que, mesmo o direito ao trabalho livre, por certo, tivesse ele próprio algum sentido alhures, ou mesmo aqui no Brasil por ocasião da luta contra a escravidão e a promoção de uma sociedade abolicionista, o fato que estamos nos esforçando por fazer convergir a análise é que realmente não representa qualquer petição de princípio, simplesmente porque, em se tratando do que o nosso autor estabelece como subdesenvolvimento, para a hercúlea tarefa do Estado de modernizar-se, Sen, denominando, por sua vez, como “trabalho adscritício” - tradução de “bound labor”, indica ao contrário de Furtado (2012), a vigência desta categoria como o primeiro passo para a sua tradução em liberdade constitutiva, algo que está relacionado como um contexto de valorização das trocas econômicas para além de sua função derivativa, somente radica numa lógica quando, no contexto do crescimento desigual, o instrumento retórico impõe a categoria desenvolvimento a uma força ou elã vital no mundo das trocas no contexto econômico vigente desde o concerto europeu, mas cujo esteio seria o próprio e difuso sentimento da cultura da inovação, somente assim, se traduziu em emponderamento, e conseguintemente, em crescimento,não-obstante, quando, ao inverso ocorre a polarização, será que, dos princípios traçados teóricamente, descortinam-se horizontes novos, a saber, desde a livre-iniciativa, a livre-contratação de trabalhadores no mercado de trabalho, a livre circulação, e que, a seu modo, acabaram, pois, em alguns casos, por silogisticamente, proceder através da existência de uma lacuna, fazendo de todo argumento da falta do Welfare, a distorção conceitual dentro de um mundo sem garantias de direitos inalienáveis, o que o autor marxista denomina de Entwicklung, ou colonização do mundo da vida, numa nova matriz da racionalização, adentrando a tradição marxista no mundo pós-metafísico (HABERMAS, 2010).
Se tivermos em mente a tradição iberica, que tivera o condão de liberar apenas o princípio político da autodeterminação, temos um princípio de autonomia em que há apenas a limitação do poder e de sua concessão atinente à sujeição da escravidão e, no primeiro caso, da liberdade em face do estado, existe a depuração cultural do saber, utilitário, temos a liberdade de associação, a liberdade de agir, a liberdade coletiva como uma demanda realizada em finalidades individuais, enquanto na tradição iberoamericana, que advêm do catolicismo medieval, apenas o ideal, já é outro o problema sob a ótica de Marx. Noutro diapasão, os eventos prefiguradores da conotação a um etapismo em que existe uma liberdade e uma sociedade internacional vêm atuar sobre esta base totalmente alterada; afinal, deveria existir um princípio para Marx a partir do empresário aquando primeiramente, o utilitarismo - lembremos que mesmo Bentham, segundo Armitage (2010), deu seu crivo ao documento da declaração de 1776 e para Marx, a revolução americana era evento disruptivo no seu tempo, pois, se a revolução religiosa conhecida como reforma fizera o transito das guildas e vereins para a
economia nacional; e, os princípios técnico-científicos do indutivismo como método de apreensão do real, e, por suposto, a união do método preconizado por Bacon a uma opção política em Hobbes, configuraram o modo de produção como a globalização do capital, a mundialização das relações capitalistas a partir disto, a saber: de um quadro conceitual que pode orientar a perspectiva da análise do desenvolvimento como um problema cultural não apenas iluminista,, porque do contrário, o que se tinha em mente era uma tentativa de aburguesar as camadas dominantes, transferir os canais de acumulação das forças transnacionais externas, para elementos associados, mas, o fator predominante jamais foi a internalização das decisões de investir, afinal, na época de D.Pedro as elites se dividiam em liberais e absolutistas. (Beauclair, Geraldo, 1978), ou seja, a renda acumulada no comércio servira para saltar estes processos mais uma vez, quer dizer, no sentido capitalista, fazer o processo sem incorrer em novo custo, a cultura aparece como dominação, mas como precaução, onde se incorre em um débito teórico a Marx ao descortinar o processo de produção e descobrir como a história se transcorre, isto é, a partir da luta de classes.
Além disto,, em que historicizo o conceito de modernidade, já agora me distancio das teses frankfurtianas de fim da modernidade e do pós-modernismo reinante. Assim, na segunda seção abordamos o paradigma fordista-keynesiano no espaço do desenvolvimento brasileiro, relacionando a uma cultura. Abordamos, ainda, na segunda seção, portanto, que travejada pelo conflito entre “independentistas”, ambas as posições revelam-se como pólos de disputa de uma forma lícita por moldar a inserção internacional, do Brasil, quer seja do enfoque do aprofundamento da multilateralização das relações externas, desde a operação pan-americana, em que os chamados independentistas (assim como são chamados os ministros de relações exteriores que, desde o segundo governo Vargas em 1937, com Osvaldo Aranha), assim como são chamados os diversos ministros de relações exteriores do Brasil desde o segundo governo Vargas, mas talvez, um pouco antes, com José Maria Whitaker, buscaram a ajuda externa. Contraprunham-se, aos próprios liberais, que, desde Dutra e a petição de um Plano Marshall com os EUA com respeito à América Latina, estiveram num contexto crispado ante a aliança para o progresso, com o governo de JK, os quais não buscavam um lugar ao sol na geopolítica do imediato histórico. (Alejandro, C. Díaz, 1972). Nada impede que possamos determinar como marco do mundo no após-guerra, o ano de 1961ou ao que deixamos em aberto, o fato de que desde Vargas, no entanto, a tentativa de controle de capitais esteve na ponta de lança da modernização, apenas alertamos a única via de se entender o mundo global pelas variantes do discurso econômico e para isto estudamos as repercussões da declaração de Independência Norte-Americana na redoma marxista.
ARENDT, H. A condição humana. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2012.
BAUMAN, Z. Em busca da política. Rio de Janeiro: Zahar, 2000.
______. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.
BERMAN, M. Tudo o que é sólido se desmancha no ar. São Paulo: Companhia das Letras, 1986.
BRAUDEL, F. Gramática das civilizações. São Paulo: Martins Fontes, 1989.
BRITTO, J. N. P. Technological complexity and industrial networks: the institutional diversity of hybrid forms of governance. In: ENCONTRO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA POLÍTICA (SEP), 3., 1999, Porto Alegre. Anais... Porto Alegre, 1999.
CASTEL, R. As metamorfoses da questão social. São Paulo: Vozes, 2003.
CHALIAND, G. Mitos revolucionários do terceiro mundo. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1977.
DAHMAN, C; SALMI, J; RODRIGUES, A. Conhecimento e inovação para a competitividade. The International Bank For Reconstruction And Development., 2008. Referência completa.
DOMINGUES, J. M. Sociologia e modernidade: para entender a sociedade contemporânea. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.
ELIAS, N. O processo civilizador. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1998. 2 v.
FAYEREBAND, P. K. Adieu la raison. Paris: Seuil, 1989.
FEHREJOHN, J. Judicializing politics, politicizing law. Law e contemporary problems, v 65, n.3, p.4168, 2002.
FRANK, A. G.; FUENTES, M. Dez teses acerca dos movimentos sociais. Lua Nova: revista de cultura e política, São Paulo, n.17, p. 19-48, jun.1989.
FOUCAULT, M. Segurança, território e população. São Paulo: Martins Fontes, 2008.
HABERMAS, J.O discurso filosófico da modernidade. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
HALL, P. A.; TAYLOR, P. A. As três versões do neo-institucionalismo. Lua nova: revista de cultura e política, São Paulo, v. 58, p. 193-223, 2003.
HARVEY, D. Condição pós-moderna. São Paulo: Loyola, 1992.
HELLER, A. A condição política pós-moderna. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998.
HOUAISS, A. Minidicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 4. ed. rev. aumentada. Rio de Janeiro: Objetiva, 2010.
HUYSSEN, A. Mapeando o pós-moderno. In: HOLLANDA, H. B.(Org.). Pósmodernismo e política. Rio de Janeiro: Rocco, 1991.
IANNI, O. Teorias da globalização. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 1998.
JACOBS, J. Morte e vida de grandes cidades. São Paulo: Martins Fontes, 2007. (Coleção A).
JAPIASSU, H. Ciências: questões impertinentes. Rio de Janeiro: Ideias e letras, 2011.
JONES, C. Introdução à teoria do crescimento. Rio de Janeiro: Elsevier, 2000.
KING, F. X. O Livro de Ouro das Profecias de Nostradamus. Rio de Janeiro: Ediouro, 2002.
KUHLMANN, S. Lógicas e evolução de políticas públicas de pesquisa e inovação. In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, 2008, Brasília. Anais... Brasília: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, 2008, p. 45-74.
KUHN, T. S. A estrutura das revoluções científicas. 10. ed. São Paulo: Perspectiva, 2011. (Coleção debates; 115).
LAMPEDUSA, G. di. O leopardo. In: ACHIAMÉ, F. O Espírito Santo na Era Vargas: (1930-1937). Elites políticas e reformismo autoritário. São Paulo: FGV, 1996.
LOCKE, J. Carta acerca da tolerância; Segundo tratado sobre o governo; Ensaio acerca do entendimento humano. São Paulo: Abril Cultural, 1973. (Os pensadores; 18).
LYOTARD, J. F. A condição pós-moderna. 11. ed. Rio de Janeiro: J. Olympio, 2009.
LUKÁCS, G. Georg Lukács: sociologia. 2. ed. São Paulo: Ática, 1992.
MAQUIAVEL, N. O príncipe: comentários de Napoleão Bonaparte. 12. ed. São Paulo: Hemus, 1996.
MARX, K. O capital: crítica da economia política: livro primeiro: o processo de produção do capital: volume II. 14. ed. Rio de Janeiro: Bertrand, 1994.
MARX, K.; ENGELS, F. A ideologia alemã. São Paulo: Boitempo, 2007.
MELO JUNIOR, J. A. C. de C. A ação coletiva e seus intérpretes. Pensamento plural, v.1, p, 65-87, 2007.
MORIN, E. Cultura de massas no século XX: o espírito do tempo. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011.
NIETZSCHE, F. W. Além do bem e do mal: prelúdio a uma filosofia do futuro. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. (Coleção das obras de Nietzsche ).
NUNES, L. de P. O Brasil e a visão de futuro: a miopia de uma nação. Rio de Janeiro: Interciência, 2013.
OFFE, C. Capitalismo desorganizado. São Paulo: Brasiliense, 1989.
ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (OCDE). Manual de Oslo: diretrizes para coleta e interpretação de dados sobre inovação. 3. ed. Rio de Janeiro: OCDE,1992.
ORWELL, George. 1984. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.
PAGOTO, C.; RAMOS, E.; SOUZA, A. de O. O prestígio do novo na modernidade literária. In: COLÓQUIO DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS, 3., 2007, Maringá. Anais... Maringá: CELL, 2009.
PELAÉZ, V.; SZMRECSÁNYI, T. (Org.). Economia da inovação tecnológica. São Paulo: Hucitec, 2006.
PESSALI, H. F.; FERNÁNDEZ, R. G. Inovação e teorias da firma. In: PELAEZ, V.; SZMRECSÁNYI, T. Economia da inovação tecnológica. São Paulo: Hucitec, 2006.
PIORE, M. J.; SABEL, C. F. The second industrial divide: possibilities for prosperity. New York: Basic Books, 1984.
PLÍNIO, O VELHO (Gaius Plinius Secundus). Natural history. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1991. 10 v.
RABAN, J. Soft city. London: Collins Harvill, 1974.
REIS, M. C. Desenvolvimento local e espaços sociais ampliados. 2006. 172 f. Tese (Doutorado em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2006.
______. A problemática territorial e o fomento da cultura da inovação. In: CONGRESO URUGUAIS DE SOCIOLOGÍA. MONTEVIDEO, 2., 2013, Montevideo. Anais... Montevideo: Universidad de La República, 10 a 12 de julho de 2013.
RICARDO, D. Princípios de economia política e tributação. São Paulo: Abril Cultural, 1982. (Os economistas).
SAUSSURE, F. de. Curso de linguística geral. 21. ed. São Paulo: Cultrix, 1999.
SCHUMPETER, J. A. Capitalismo, socialismo e democracia. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1961.
______. Teoria do desenvolvimento econômico: uma investigação sobre lucros, capital, crédito, juro e o ciclo econômico. São Paulo: Abril Cultural, 1982. (Os economistas).
SCHWARTZMAN, S. Pesquisa universitária e inovação no Brasil. In: SEMINÁRIO
INTERNACIONAL DE AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, 2008, Brasília. Anais... Brasília: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, 2008, p. 19-43.
SENNETT, R. A corrosão do caráter: consequências pessoais do trabalho no novo capitalismo. Rio de Janeiro: Record, 1999.
SEVCENKO, N. A corrida do século XXI: no loop da montanha russa. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. (Coleção virando séculos, 7).
SIMMEL, Georg. Questões fundamentais da sociologia: indivíduo e sociedade. Rio de Janeiro: Zahar, 2012. (Nova biblioteca de ciências sociais).
SPENGLER, O. A decadência do Ocidente: esboço de uma morfologia da História Universal. 4. ed. condensada. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2014.
SEN, A. Sobre ética e economia. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.
SHIMA, T. Economia de redes e inovação tecnológica. In: PELÁEZ, V.; SCREZAMNY, T. (Org.). Economia da inovação tecnológica no Brasil.
VAZ, E. da C. Teoria do desenvolvimento econômico. São Paulo: Abril, 1982. (Coleção Os pensadores).
VEIGA, J. E. da. Desenvolvimento sustentável: desafio para o século XXI. São Paulo: Garamond, 2010.