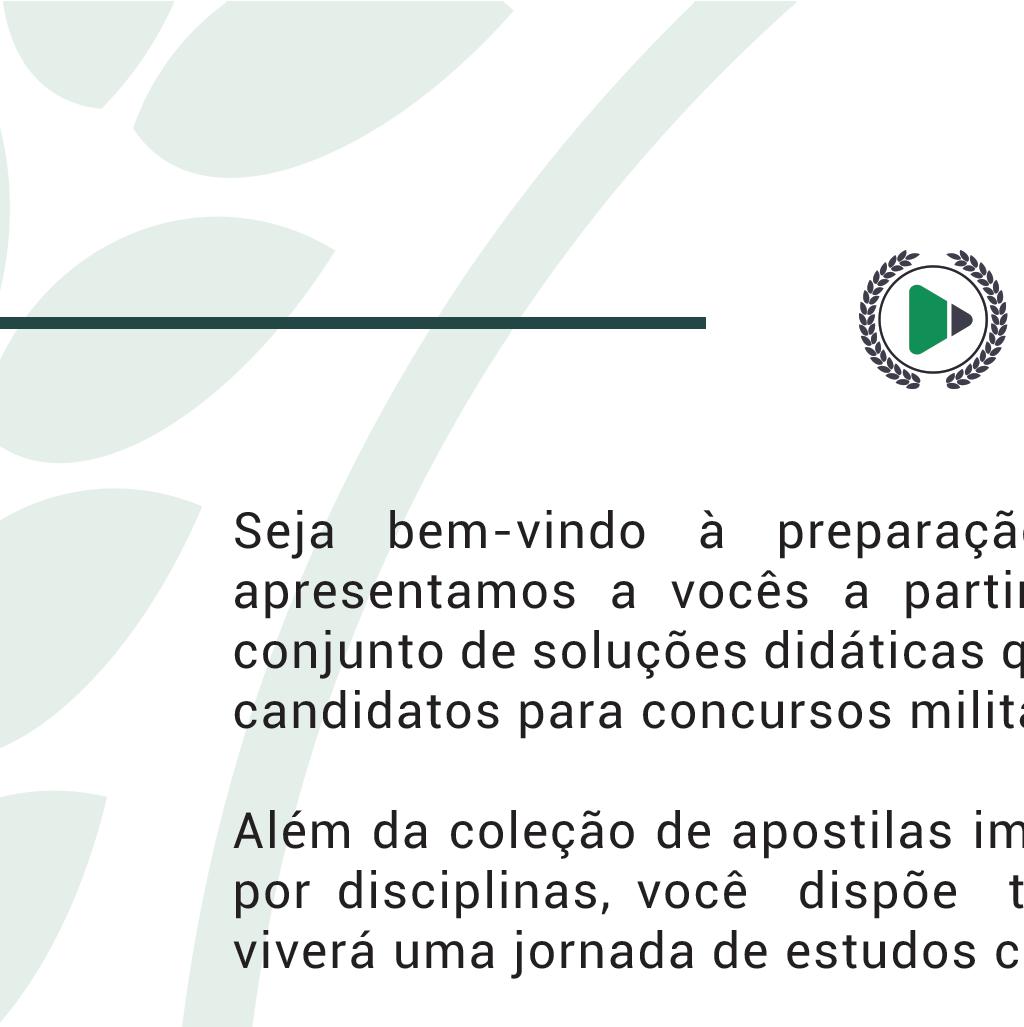38 minute read
AGROPECUÁRIA
» LITERATURA
Sistema Prodígio de Ensino Kernel Editora Ltda Brasil, Rio de Janeiro, 2021
Advertisement





SUMÁRIO
LITERATURA
INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS LITERÁRIOS: UMA BREVE HISTÓRIA DA LITERATURA 5 GÊNEROS LITERÁRIOS: UM ESTUDO DOS GÊNEROS LÍRICO E ÉPICO 17 GÊNEROS LITERÁRIOS: UM ESTUDO DOS GÊNEROS NARRATIVO E DRAMÁTICO 27 AS ORIGENS DA LITERATURA PORTUGUESA: TROVADORISMO, HUMANISMO E CLASSICISMO 39 LITERATURA COLONIAL: QUINHENTISMO E BARROCO 49 ARCADISMO 59 ROMANTISMO: AS GERAÇÕES DA POESIA 69 ROMANTISMO: A PROSA ROMÂNTICA 79 REALISMO 87 NATURALISMO 97 PARNASIANISMO 105 SIMBOLISMO 113 PRÉ-MODERNISMO 121 VANGUARDAS EUROPEIAS 129 MODERNISMO DE 22 139 MODERNISMO DE 30 147 MODERNISMO DE 45 157 POESIA PÓS-MODERNA 167 PROSA PÓS-MODERNA 177 REVISÃO 187
Certa vez, o escritor brasileiro Ferreira Gullar disse, em uma entrevista, que a arte existia porque a vida não bastava. Quando analisamos as pinturas rupestres feitas por civilizações primitivas, percebemos que, desde muito tempo, usamos diferentes objetos para expressar nossa subjetividade. Para o homem, viver dentro de uma rotina não é o bastante, ele precisa criar, inventar, alimentar sua imaginação.
Observe os dois textos a seguir e entenda melhor.
Texto I:

Texto II:
Os textos I e II têm a mesma nalidade comunicativa? Qual é a motivação para a criação do texto I? Se olharmos com atenção para a primeira imagem, notaremos que se trata de uma campanha publicitária criada para conscientizar sobre a importância de os alunos devolverem os livros da biblioteca no prazo. Apesar da criatividade depreendida em sua feitura, ao expor uma intertextualidade com um quadro famoso, o texto produzido pela Universidade Federal de Goiás não apresenta relevância histórica, sociocultural ou estética, por isso, não pode ser classi cado como um texto artístico.
O segundo texto visa provocar o incômodo para, assim, despertar a re exão do público. Por apresentar tais características, é considerado um texto artístico que utiliza a pintura como meio de expressão. Para produzir arte, usamos diferentes materiais e, no momento em que as palavras se tornam matéria-prima, criamos a arte literária, isto é, a Literatura.
Em sentido amplo, qualquer texto pode ser nomeado como “literatura”, já que tal vocábulo signi ca, pelo dicionário Houaiss, “arte de escrever”. Porém, no âmbito do Ensino Médio, analisamos a confecção de textos artísticos e, por consequência, pensamos na Literatura como manifestação artística que se organiza em torno da palavra e da escrita.
Além disso, não podemos ignorar que qualquer representação artística é uma forma subjetiva e criativa de conceber a realidade. Na obra A Persistência da Memória (texto II), Salvador Dalí apropria-se de um objeto muito comum no nosso cotidiano: o relógio. Entretanto, o fato de estarem derretendo surpreende o público, pois apresenta esse objeto de uma maneira diferente do habitual, promovendo uma inovação.
Quando entendemos que toda obra de arte é uma representação do real, tornamo-nos cientes de um princípio básico: a mímesis. Dalí representa a realidade ao pintar relógios, mas, ao fazê-los derreter, retrata tais objetos de acordo com a própria subjetividade e originalidade. Tal exemplo nos permite perceber que a arte se aproxima do real, porém, por mais que uma obra esteja próxima da realidade, o objeto artístico não é a realidade.

TEXTO LITERÁRIO
Com a Literatura, usamos as palavras para retratar a realidade de forma subjetiva e inventiva, ou seja, de modo ficcional. Ademais, no texto literário, há a expansão do significado das palavras, prevalecendo, portanto, a linguagem conotativa. Compare os textos seguintes para compreender melhor.
Texto III:
Pedimos aos leitores e colaboradores que apontassem os poemas mais signi cativos de Paulo Leminski. Escritor, crítico literário e tradutor, Paulo Leminski foi um dos mais expressivos poetas de sua geração. In uenciado pelos dos irmãos Augusto e Haroldo de Campos deixou uma obra vasta que, passados 25 anos de sua morte, continua exercendo forte in uência nas novas gerações de poetas brasileiros. Seu livro “Metamorfose” foi o ganhador do Prêmio Jabuti de Poesia, em 1995.
(Fonte: https://www.revistabula.com/385-15-melhores-poemas-de-paulo-leminski/)
RAZÃO DE SER
Escrevo. E pronto. Escrevo porque preciso, preciso porque estou tonto. Ninguém tem nada com isso. Escrevo porque amanhece, E as estrelas lá no céu Lembram letras no papel, Quando o poema me anoitece. A aranha tece teias. O peixe beija e morde o que vê. Eu escrevo apenas. Tem que ter por quê?
(LEMINSKI, Paulo)
Ao lermos o texto III, percebemos que não houve expansão do signi cado das palavras, trata-se de um texto que traz uma informação com objetividade, por isso, não é um texto literário. Já o poema, caracteriza-se por usar a linguagem de forma conotativa (“Quando o poema me anoitece”, por exemplo) para criar um texto de relevância estética, desse modo, caracteriza-se como um texto literário.
O que faz com que o texto seja considerado literário?
• O texto literário apresenta uma relevância estética, histórica e sociocultural. • Há carga conotativa. • Aquilo que é considerado literário foi resultado de um processo criativo e intelectual. • Apresenta ccionalidade.
ESCOLAS LITERÁRIAS
Como o homem é um ser social, ele é influenciado pelos valores da época em que vive. Sendo assim, escritores que vivem em uma mesma época tendem a compartilhar valores e ideologias que são reproduzidos nos textos literários. Esse conjunto de escritores com traços de estilo semelhantes dá origem ao que chamamos de estilo de época ou escolas literárias.
Entender as diferentes escolas literárias é importante para entender os textos que foram produzidos em um determinado momento, no entanto, não podemos pensar que a arte segue regras. O trabalho de um escritor envolve, antes de tudo, invenção e criatividade, por isso, não devemos analisar um texto literário de forma simplista. Quando dizemos que Manuel Bandeira é um escritor modernista, isso não signi ca que toda a sua obra trará, necessariamente, característica modernistas.
UMA BREVE HISTÓRIA DA LITERATURA
A língua de um povo é o patrimônio que o singulariza. A partir de tal perspectiva, pode-se entender que a Literatura constrói o patrimônio cultural e linguístico de uma sociedade.
A formação da Literatura de Língua Portuguesa começa, para ns didáticos, na Idade Média, quando os compositores de músicas cantavam suas trovas na Europa, acompanhados de um instrumento musical. Eram chamados de trovadores, sendo o Trovadorismo o primeiro estilo de época registrado.
Seguindo a cronologia da Literatura, tem-se o período do Renascimento europeu, caracterizado por seu antropocentrismo. A arte passa a ser tratada de forma racional, buscando inspiração na estética greco-romana.
Já no período seguinte, como resposta ao avanço do pensamento protestante, surge a arte barroca, resgatando os ideais defendidos pela Igreja Católica. Mais tarde, passado o dualismo e a instabilidade espiritual, a Literatura articula-se ao desenvolvimento do pensamento Iluminista e ganha novos contornos, aproximando-se da natureza e valorizando a emoção. O homem se vê, no Arcadismo, em meio a muitas alterações nas cidades e a con itos políticos e usa o ngimento poético para retornar ao campo.
Inspirados pelos ideais da Revolução Francesa, os escritores românticos surgem e criam uma expressão artística que valoriza a liberdade e a individualidade. No Brasil, o Romantismo acompanha a independência do país, tornando-se um movimento de grande relevância.
Com o desenvolvimento da ciência ao longo do século XIX, a Literatura articula-se a esses valores para criticar e retratar a sociedade burguesa. O Realismo, bem como o Naturalismo distanciaram-se da estética romântica para manter uma postura mais racional dentro da Literatura.
Na poesia brasileira, o Parnasianismo passa a valorizar o texto rebuscado, equilibrado e belo. Distanciando-se da racionalidade, os escritores simbolistas, contemporâneos aos parnasianos, retomam uma poesia subjetiva e muito preocupada com a sonoridade.
Já no início do século XX, a Europa vivia um dos momentos mais férteis das manifestações artísticas: os movimentos de vanguarda. Nesse momento, o Brasil passava por uma fase de transição, o Prémodernismo, que antecipou algumas características do Modernismo, mas ainda manteve elementos conservadores.
In uenciados pelo contato com a arte de vanguarda, um grupo de escritores decide criar uma arte de ruptura. Assim, surge a primeira fase do Modernismo brasileiro que teve como marco a Semana de Arte Moderna em 1922. A partir de então, a escrita torna-se mais coloquial e menos rebuscada e, com o passar do tempo e com as transformações sociais, o Modernismo adquire diferentes fases.
Ao longo dos capítulos, estudaremos todas essas manifestações artísticas com maior profundidade para que você que bem preparado para as provas e concursos.

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO
01. Considere o texto:
O LEMA DA TROPA
“O destemido tenente, no seu primeiro dia como comandante de uma fração de tropa, vendo que alguns de seus combatentes apresentavam medo e angústia diante da barbárie da guerra, gritou, com rmeza, para inspirar seus homens a enfrentarem o grupamento inimigo que se aproximava: – Ou mato ou morro!
Ditas essas palavras, metade de seus homens fugiu para o mato e outra metade fugiu para o morro”. O fragmento acima destacado, no contexto em que se apresenta, indica a) a situação que motivou o tenente a encorajar seus combatentes. b) a consequência das ações e das palavras do tenente mediante seus homens. c) o medo e angústia que, de igual modo, in uenciou as ações temerosas do destemido tenente. d) a força de bravura da fração de tropa comandada por um tenente que, embora inexperiente em guerra, era muito corajoso.
02. A orquestra atacou o tema que tantas vezes ouvi na vitrola de Matilde. Le maxixe, exclamou o francês [...] e nos pediu que dançássemos para ele ver. Mas eu só sabia dançar a valsa, e respondi que ele me honraria tirando minha mulher. No meio do salão os dois se abraçaram e assim permaneceram, a se encarar. Súbito ele a girou em meia-volta, depois recuou o pé esquerdo, enquanto com o direito Matilde dava um longo passo adiante, e os dois estacaram mais um tempo, ela arqueada sobre o corpo dele. Era uma coreogra a precisa, e me admirou que minha mulher conhecesse aqueles passos. O casal se entendia à perfeição, mas logo distingui o que nele foi ensinado do que era nela natural. O francês, muito alto, era um boneco de varas, jogando com uma boneca de pano. Talvez pelo contraste, ela brilhava entre dezenas de dançarinos, e notei que todo o cabaré se extasiava com a sua exibição. Todavia, olhando bem, eram pessoas vestidas, ornadas, pintadas com deselegância, e foi me parecendo que também em Matilde, em seus movimentos de ombros e quadris, havia excesso. A orquestra não dava pausa, a música era repetitiva, a dança se revelou vulgar, pela primeira vez julguei meio vulgar a mulher com quem eu tinha me casado. Depois de meia hora eles voltaram se abanando, e escorria suor pelo colo de Matilde decote abaixo. Bravô, eu gritei, bravô, e ainda os estimulei a dançar o próximo tango, mas Dubosc disse que já era tarde, e que eu tinha um ar fatigado.
(CHICO BUARQUE. Leite derramado. São Paulo: Cia. das Letras, 2009.)
Os recursos expressivos de um texto literário fornecem pistas aos leitores sobre a percepção dos personagens em relação aos eventos da narrativa. No fragmento, constitui um aspecto relevante para a compreensão das intenções do narrador a a) inveja disfarçada em relação ao estrangeiro, sugerida pela descrição de seu talento como dançarino. b) demonstração de ciúmes, expressa pela desquali cação dos participantes da cena narrada. c) postura aristocrática, assinalada pela crítica à orquestra e ao gênero musical executado. d) manifestação de desprezo pela dança, indicada pela crítica ao exibicionismo da mulher. e) atitude interesseira, pressuposta no elogio nal e no estímulo à continuação da dança. 03. (UFMT) Sobre literatura, gênero e estilos literários, pode-se dizer que: a) tanto no verso quanto na prosa pode haver poesia. b) todo momento histórico apresenta um conjunto de normas que caracteriza suas manifestações culturais, constituindo o estilo da época. c) o texto literário é aquele em que predominam a repetição da realidade, a linguagem linear, a unidade de sentido. d) no gênero lírico os elementos do mundo exterior predominam sobre os do mundo interior do eu poético.
04.
PORTA DE COLÉGIO
Passando pela porta de um colégio, me veio a sensação nítida de que aquilo era a porta da própria vida. Banal, direis. Mas a sensação era tocante. Por isso, parei, como se precisasse ver melhor o que via e previa.
Primeiro há uma diferença de 1clima entre 6aquele bando de adolescentes espalhados pela calçada, sentados sobre carros, em torno de carrocinhas de doces e refrigerantes, e aqueles que transitam pela rua. Não é só o uniforme. Não é só a idade. É toda uma 2atmosfera, como se estivessem ainda dentro de uma 8redoma ou aquário, numa bolha, resguardados do mundo. Talvez não estejam. Vários já sofreram a pancada da separação dos pais. 7Aprenderam que a vida é também um exercício de separação. 9Um ou outro já transou droga, e com isso deve ter se sentido (equivocadamente) muito adulto. Mas há uma sensação de pureza angelical misturada com palpitação sexual, que se exibe nos gestos sedutores dos adolescentes.
Onde estarão 4esses meninos e meninas dentro de dez ou vinte anos? 5Aquele ali, moreno, de cabelos longos corridos, que parece gostar de esporte, vai se interessar pela informática ou economia; 5aquela de cabelos louros e crespos vai ser dona de boutique; 5aquela morena de cabelos lisos quer ser médica; a gorduchinha vai acabar casando com um gerente de multinacional; 5aquela esguia, meio bailarina, achará um diplomata. Algumas estudarão Letras, se casarão, largarão tudo e passarão parte do dia levando lhos à praia e à praça e pegando-os de novo à tardinha no colégio. [...]
Estou olhando aquele bando de adolescentes com evidente ternura. Pudesse passava a mão nos seus cabelos e contava-lhes as últimas histórias da carochinha antes que o 3lobo feroz as assaltasse na esquina. Pudesse lhes diria daqui: aproveitem enquanto estão no aquário e na redoma, enquanto estão na porta da vida e do colégio. O destino também passa por aí. E a gente pode às vezes modi cá-lo.
(SANT’ANNA, Affonso Romano de. Affonso Romano de Sant’Anna: seleção e prefácio de Letícia Malard. Coleção Melhores Crônicas. p. 64-66.)
A crônica é um gênero, digamos, aberto. Dentro dessa rubrica cabem vários conceitos. As quatro opções abaixo apresentam características de crônica, mas só uma expressa as características apresentadas pelo texto de Sant’Anna. Assinale essa opção. a) Pequeno texto polêmico escrito para uma coluna de periódico, assinada, com notícias e comentários sobre cultura e política. b) Conjunto de notícias e críticas a respeito de fatos da atualidade, de cunho memorialista ou confessional. c) Texto literário breve que espelha fatos ou elementos do cotidiano, sobre os quais o enunciador re ete e opina. d) Breve narrativa literária de trama quase sempre pouco de nida e sobre motivos extraídos do cotidiano imediato.
05. Sobre a linguagem não literária é correto a rmar, exceto: a) É utilizada, sobretudo, em textos cujo caráter seja essencialmente informativo. b) Sua principal característica é a objetividade.
c) Utiliza recursos como a conotação para conferir às palavras sentidos mais amplos do que elas realmente possuem. d) Utiliza a linguagem denotativa para expressar o real signi cado das palavras, sem metáforas ou preocupações artísticas.
06. Assinale a a rmativa INCORRETA em relação à teoria literária. a) Enquanto a linguagem do historiador, do cientista se de ne como denotativa, a linguagem do autor literário se de ne como conotativa. b) A literatura não existe fora de um contexto social, já que cada autor tem uma vivência social. c) A obra literária não permite aos leitores gerar várias ideias e interpretações, pois trabalha a linguagem de forma exclusivamente objetiva. d) A linguagem poética é constituída por uma estrutura complexa, pois acrescenta ao discurso linguístico um signi cado novo, surpreendente. e) Para o entendimento de um texto literário, é necessário o conhecimento do código linguístico e de uma pluralidade de códigos: retóricos, míticos, culturais, que se encontram na base da estrutura artístico-ideológica do texto.
07.
POESIA Gastei a manhã inteira pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto ele está cá dentro inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira.
(ANDRADE, Carlos Drummond de. Alguma poesia. 8. ed. Rio de Janeiro)
Assinale a alternativa INCORRETA referente ao texto “Poesia”. a) “No entanto”, no terceiro verso, e “Mas”, no penúltimo verso, têm sentido adversativo; reforçam a luta do poeta com as palavras. b) No segundo verso, “que a pena não quer escrever”, a forma verbal apropriada, para o racionalismo que o poema defende, seria “quis escrever”. c) O poema fala da própria busca da poesia. Trata-se de um texto metalinguístico. d) Em “inunda minha vida inteira” há um exagero verbal, que recebe o nome de hipérbole; o exagero nasce do contentamento do eu-lírico.
08.
O ADOLESCENTE A vida é tão bela que chega a dar medo. Não o medo que paralisa e gela, estátua súbita. Mas esse medo fascinante e fremente de curiosidades que faz o jovem felino seguir para frente farejando o vento ao sair, a primeira vez, da gruta.
Medo que ofusca: luz!
Cumplicemente, as folhas contam-te um segredo velho como o mundo:
Adolescente, olha! A vida é nova... A vida é nova e anda nua - vestida apenas com teu desejo!
(QUINTANA, Mário. Nariz de vidro. São Paulo, Moderna) A linguagem da poesia é plurissigni cativa. Ou seja: tem vários sentidos. Com base nisso, assinale a alternativa incorreta sobre o poema de Mário Quintana. a) A palavra “medo”, na 1ª estrofe, apresenta o sentido próprio de
“estátua súbita”. b) O verso “Medo que ofusca: luz!” é uma metáfora para o medo que move os jovens para frente. c) Em “velho como o mundo”, há uma comparação que mostra a linguagem denotativa predominante no poema. d) Em “jovem felino” que sai “da gruta” e segue “para frente”, há uma referência ao medo que impulsiona o jovem.
09. Leia o trecho abaixo, retirado de I-Juca Pirama, obra de Gonçalves Dias.
Da tribo pujante,
Que agora anda errante
Por fado inconstante,
Guerreiros, nasci: Sou bravo, sou forte, sou lho do norte, Meu canto de morte, Guerreiros, ouvi. Trata-se de um: a) poema lírico. b) poema épico. c) cantiga de amigo. d) novela de cavalaria. e) auto de fundo religioso.
10. Leia o trecho abaixo, de “Morte e vida severina”, de João Cabral de Melo Neto.
“— Severino retirante, deixa agora que lhe diga: eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia, se não vale mais saltar fora da ponte e da vida; (…) E não há melhor resposta que o espetáculo da vida: vê-la des ar seu o, que também se chama vida, ver a fábrica que ela mesma, teimosamente, se fabrica,”
Quanto ao gênero literário, é correto a rmar que o fragmento lido é a) narrativo, que conta em prosa histórias do sertão nordestino. b) uma peça teatral, desprovido de lirismo e com linguagem rústica. c) bastante poético e marcado por rimas, sem metri cação. d) uma epopeia, que traduz o desencanto pela vida dura do sertão. e) dramático, que encena con itos internos do ser humano.
EXERCÍCIOS DE TREINAMENTO
01. (IFSC)
POEMA TIRADO DE UMA NOTÍCIA DE JORNAL
João Gostoso era carregador de feira livre e morava no morro da Babilônia num barracão sem número.
Uma noite ele chegou no bar Vinte de Novembro
Bebeu
Cantou
Dançou
Depois se atirou na lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado.
(Fonte: BANDEIRA, Manuel. In: Manuel Bandeira. São Paulo: Abril Educação, 1981, p. 65.)
Sobre o texto, é CORRETO a rmar que: a) É um texto não literário porque tem como objetivo detalhar fatos e deve ser classi cado como reportagem, e não como poema. b) É um texto informativo por apresentar informações sobre um acontecimento recente e, por isso, deve ser classi cado como notícia.
c) É um texto descritivo, diferentemente do que consta no título, porque apresenta várias características físicas e psicológicas do personagem João Gostoso. d) É um texto literário, possui traços narrativos porque apresenta uma sequência de acontecimentos, e deve ser classi cado como poema, conforme consta no título. e) É um texto instrucional porque indica como realizar uma ação, aproximando-se, por isso, de um manual de instruções.
02. (UFRRJ)
Cena 9 CANÇÃO DO EXÍLIO
Minha terra tem campos de futebol onde cadáveres amanhecem emborcados pra atrapalhar os jogos. Tem uma pedrinha cor-de-bile que faz “tuim” na cabeça da gente. Tem também muros de bloco (sem pintura, claro, que tinta é a maior frescura quando falta mistura), onde pousam cacos de vidro pra espantar malaco.
Minha terra tem HK, AR15, M21, 45 e 38 (na minha terra, 32 é uma piada). As sirenes que aqui apitam, apitam de repente e sem hora marcada. Elas não são mais das fábricas, que fecharam. São mesmo é camburões, que vêm fazer aleijados, trazer tranquilidade e a ição.
(BONASSI, Fernando. “15 cenas de descobrimento de Brasis”. In: MORICONI, Ítalo (org). Os cem melhores contos brasileiros do século. Rio Janeiro: Objetiva, 2000, p.)
Sobre o uso do nível de linguagem empregado no texto, é correto a rmar que é a) inaceitável, por se tratar de um texto literário, cujo nível de linguagem exigido é o culto. b) adequado às intenções de crítica e denúncia do mundo contemporâneo. c) inadequado para abordar o tema romântico do exílio de uma perspectiva crítica e contemporânea. d) aceitável por se tratar de texto literário, mas inadequado à intenção jornalística do autor. e) inadequado porque os escritores brasileiros contemporâneos não falam nem escrevem dessa maneira.
03. (UEL) Texto I:
CORTE
O dia segue normal. Arruma-se a casa. Limpa-se em volta. Cumprimenta-se os vizinhos. Almoça-se ao meio-dia. Ouve-se rádio à tarde. Lá pelas 5 horas, inicia-se o de sempre.
(MELLO, Maria Amélia. Corte. Minas Gerais, Belo Horizonte, nº 686, ano XIV, 04 nov.1979. Suplemento Literário, p. 92.)
Texto II:
SOLAR Minha mãe cozinhava exatamente: arroz, feijão-roxinho, molho de batatinhas. Mas cantava.
(PRADO, Adélia. O Coração disparado. 3ª ed. Rio de Janeiro: Salamandra, 1984. p. 28.)
Com base nos textos I e II, considere as a rmativas a seguir. I. Como “Corte” está em forma de prosa, sua caracterização destoa da estrutura comum em poemas. II. A ausência de expressão em primeira pessoa inviabiliza a caracterização de “Corte” como texto literário. III. O fato de “Solar” possuir apenas três versos constitui prática literária inovadora, sem precedentes entre as manifestações poéticas brasileiras. IV. O uso de primeira pessoa em “Solar” auxilia o caráter de subjetividade que se pode atribuir ao poema. Estão corretas apenas as a rmativas: a) I e III. b) I e IV. c) II e III. d) I, II e IV. e) II, III e IV.
04. (UFF)
A PÁTRIA Ama, com fé e orgulho, a terra em que nasceste! Criança! não verás nenhum país como este! Olha que céu! que mar! que rios! que oresta! A Natureza, aqui, perpetuamente em festa, É um seio de mãe a transbordar carinhos. Vê que vida há no chão! vê que vida há nos ninhos, Que se balançam no ar, entre os ramos inquietos! Vê que luz, que calor, que multidão de insetos! Vê que grande extensão de matas, onde impera Fecunda e luminosa, a eterna primavera!
Boa terra! jamais negou a quem trabalha O pão que mata a fome, o teto que agasalha...
Quem com o seu suor a fecunda e umedece, Vê pago o seu esforço, e é feliz, e enriquece!
Criança! não verás país nenhum como este: Imita na grandeza a terra em que nasceste!
(Olavo Bilac)
As estéticas literárias, embora costumem ser datadas nos livros didáticos com início e término pós-determinados, não se deixam aprisionar pela rigidez cronológica. Assinale o comentário adequado em relação à expressão estética do poema “A Pátria” de Olavo Bilac (1865-1918). a) O poema transcende a estética parnasiana ao tratar a temática da exaltação da terra, segundo a estética romântica. b) O poema exempli ca os preceitos da estética parnasiana e valoriza a forma na expressão comedida do sentimento nacional. c) O poema se antecipa ao discurso crítico da identidade nacional - tema central da estética modernista. d) O poema se insere nas fronteiras rígidas da estética parnasiana, dando ênfase à permanência do ideário estético, no eixo temporal das escolas literárias. e) O poema re ete os valores essenciais e perenes da realidade, distanciando-se de um compromisso com a a rmação da nacionalidade.
05. (UERJ) Texto I:
RETRATOS DA MULHER LIVRE
Qual seria a aparência da mulher livre? Lembrando que havia vários tipos de mulheres não escravas, podemos imaginar que, entre as fazendeiras ricas e as pobres roceiras, as diferenças alimentares e de estilo de vida deixaram marcas diferenciadas em suas sionomias. (...)
Os traços das mulheres de elite são mais conhecidos. Ao vasculharmos amontoados de retratos de famílias do interior do Nordeste, elas estão ali: ora sentadas, ora em pé ao lado do marido, rodeadas pelos lhos. Esguias ou gordas, de formas arredondadas. Mas, ao aceitarmos as palavras de Gardner, viajante inglês que por lá passou em 1836, vemos que a gordura “era considerada o encanto principal da beldade do Brasil e o maior elogio que se pode dizer a uma mulher é dizer que está cando cada dia mais gorda e mais bonita, coisa que na maioria delas cedo acontece pela vida sedentária que levam”. (...)
Uma coisa as nordestinas do sertão pareciam ter em comum: o apreço pelos longos cabelos. Basta dizer que, na seca de 1877, mulheres famintas, esquálidas, chegaram na casa do major Selemérico, em Oeiras, antiga residência do presidente da província, e, em agonia de morte, ofereciam cortar o cabelo em troca de água, água.
Na França, no alvorecer do mundo moderno, um certo tipo de beleza feminina conheceu prestígio. Ela era útil não só para incitar o homem, mas era a arma especí ca, e legítima, do sexo frágil, que pôde graças a ela compensar sua fraqueza. Adornava-se o corpo com vestidos amplos (que na França chegavam a usar 30 metros de tecidos), escondiam-se as formas des guradas por uma gravidez com um colete, ostentava-se longos cabelos (que as pobres, por vezes, vendiam para obter algum dinheiro). E no sertão brasileiro? Mesmo as mulheres ricas costumavam se vestir com uma certa simplicidade se comparadas com as da elite litorânea. Também não costumavam usar joias em seu dia. Traziam, debaixo da saia principal, duas saias de algodão, enfeitadas com barrado de renda (a chamada “renda-de-ponta”) e bem engomadas, além da “camisa de dentro” (espécie de combinação também debruada de renda-renascença). A blusa exterior, em geral, de manga comprida, era ornada com plissados, apliques, bordados de crivo ou crochê. A intenção ao vestir-se era não revelar as formas do corpo nem mesmo insinuar seios ou pernas. No pescoço, os cordões de veludo, “as gargantilhas”, e nos cabelos as “travessas” de prata ou de tartaruga, ou presilhas de ouro ou mar m (as mais pobres usavam de chifre de boi). Mas não havia cosméticos nem verniz nas unhas. Passavam no rosto e nos cabelos azeite de babaçu e pó-de-arroz, que vinha nas caixas forradas de cetim vermelho produzidas pelas perfumarias Carneiro, no Rio de Janeiro. Nos pés, usavam botinas de cano curto, de couro, amarradas nos tornozelos, feitas por escravos sapateiros que muito cedo aprenderam e desenvolveram a arte de fazer sapatos - imitando dos europeus - pois usar sandálias não era de bom tom.
(FALCI, Miridan Knox. “Mulheres do sertão nordestino”. In: PRIORE, Mary Del (org.) História das mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 1997.)
Texto II:
A COMADRE
Era a comadre uma mulher baixa, excessivamente gorda, bonachona, ingênua ou tola até um certo ponto, e nória até outro; vivia do ofício de parteira, que adotara por curiosidade, e benzia de quebranto; todos a conheciam por muito beata e pela mais desabrida papa-missas da cidade. Era a folhinha mais exata de todas as festas religiosas que aqui se faziam; sabia de cor dos dias em que se dizia missa em tal ou tal igreja, como a hora e até o nome do padre; era pontual à ladainha, ao terço, à novena, ao setenário; não lhe escapava viasacra, procissão, nem sermão; trazia o tempo habilmente distribuído e as horas combinadas, de maneira que nunca lhe aconteceu chegar à igreja e achar já a missa no altar. De madrugada começava pela missa da Lapa; apenas acabava ia à das oito na Sé, e daí saindo pilhava ainda a das nove em Santo Antônio. O seu traje habitual era, como o de todas as mulheres da sua condição e esfera, uma saia de lilá preta, que se vestia sobre um vestido qualquer, um lenço branco muito teso e engomado ao pescoço, outro na cabeça, um rosário pendurado no cós da saia, um raminho de arruda atrás da orelha, tudo isto coberto por uma clássica mantilha, junto à renda da qual se pregava uma pequena ga de ouro ou de osso. Nos dias dúplices, em vez de lenço à cabeça, o cabelo era penteado, e seguro por um enorme pente cravejado de crisólitas.
Este uso da mantilha era um arremedo do uso espanhol; porém a mantilha espanhola, temos ouvido dizer, é uma cousa poética que reveste as mulheres de um certo mistério, e que lhes realça a beleza; a mantilha das nossas mulheres, não; era a cousa mais prosaica que se pode imaginar, especialmente quando as que as traziam eram baixas e gordas como a comadre. A mais brilhante festa religiosa (que eram as mais frequentadas então) tomava um aspecto lúgubre logo que a igreja se enchia daqueles vultos negros, que se uniam uns aos outros, que se inclinavam cochichando a cada momento.
Mas a mantilha era o traje mais conveniente aos costumes da época; sendo as ações dos outros o principal cuidado de quase todos, era muito necessário ver sem ser visto. A mantilha para as mulheres estava na razão das rótulas para as casas; eram o observatório da vida alheia. Muito agitada e cheia de acidentes era a vida que levava a comadre, de parteira, beata e curandeira de quebranto; não tinha por isso muito tempo de fazer visitas e procurar os conhecidos e amigos.
(ALMEIDA, Manuel Antônio de. Memórias de um sargento de milícias. Rio de Janeiro: Ediouro, 1997.) Os textos I e II registram aspectos do vestuário feminino brasileiro do período colonial. O primeiro é exclusivamente documental, por ser um texto de História; já a combinação de dados documentais, conteúdos ccionais e observações subjetivas contribui para fazer do texto II um texto literário. Um trecho do texto II que se refere exclusivamente à comadre como personagem de cção vem transcrito em: a) “Era a folhinha mais exata de todas as festas religiosas que aqui se faziam; sabia de cor dos dias em que se dizia missa em tal ou tal igreja,” b) “O seu traje habitual era, como o de todas as mulheres da sua condição e esfera, uma saia de lilá preta,” c) “em vez de lenço à cabeça, o cabelo era penteado, e seguro por um enorme pente cravejado de crisólitas.” d) “a mantilha espanhola, temos ouvido dizer, é uma cousa poética que reveste as mulheres de um certo mistério,”
06. (UFPE)
“Na verdade, um estilo literário não desaparece nunca. Ele se incorpora à cultura; pode cair de moda, mas continua fazendo parte do amplo conjunto de realizações humanas e traços podem até reaparecer.”
(Faraco e Moura)
Analise as a rmações a seguir sobre estilos e escolas literárias e assinale a alternativa incorreta. a) O Barroco usou o excesso de imagens (comparações, antíteses, paradoxos) para expressar contradições. Este excesso permaneceu no Simbolismo para expressar sensações de cores, luzes e sons.
No Barroco, destacou-se a temática da efemeridade da vida, cultivada, também, na poesia do romântico Álvares de Azevedo. b) O Arcadismo caracterizou-se pelo retorno à natureza, pelo bucolismo, que permanece no “culto à natureza” do Romantismo, numa dimensão mais dinâmica. c) O Realismo e o Modernismo tiveram em comum a característica de retratar a realidade brasileira tal como se apresentava, embora com concepções diferentes de linguagem. d) O Romantismo cultivou a exaltação das paisagens brasileiras, frequente em Gonçalves Dias. O Parnasianismo retomou essa tendência, observada no ufanismo de Olavo Bilac. e) O Simbolismo restringiu-se à poesia, tendo-se identi cado com o
Realismo pelo afastamento do místico e do espiritual.
07. Texto I:
Oh! que saudades que tenho
Da aurora da minha vida,
Da minha infância querida
Que os anos não trazem mais!
Que amor, que sonhos, que ores,
Naquelas tardes fagueiras,
À sombra das bananeiras,
Debaixo dos laranjais!
Texto II:
Ai, que saudades que eu tenho
Da aurora da minha vida
Da minha infância querida
Que os anos não trazem mais...
Me sentia rejeitada,
Tão feia, desajeitada,
Tão frágil, tola, impotente,
Apesar dos laranjais.
(Casimiro de Abreu)
(Ruth Rocha)
Assinale a alternativa incorreta. O texto II resgata e subverte o texto I por meio de: a) diferenças de ponto de vista entre o texto II e o texto I, como, por exemplo, a infância, tematizada como o lugar da evasão para a felicidade, no texto I. b) diferenças de ponto de vista entre o texto II e o texto I, como, por exemplo, a crítica ao sonho absorvente e a crítica à não crítica romântica, que acontecem no texto II. c) semelhanças entre o texto II e o texto I, como, por exemplo, a interjeição, seguida de um pronome inde nido e de um substantivo abstrato, abrindo as estrofes de ambos os textos. d) semelhanças entre o texto II e o texto I, como, por exemplo, os versos 2 e 3, que constituem o objeto indireto “de saudades”, preenchido com as mesmas guras “de aurora” e de “infância querida”. e) diferenças entre o texto II e o texto I, como, por exemplo, a expressão “saudades (...) de minha infância querida”, que, no texto II, adquire uma conotação de ironia, já que essa infância não era querida.
08. (IFSC)
ESPARADRAPO
Aquele restaurante de bairro é do tipo simpatia/classe média. 1Fica em rua sossegada, é pequeno, limpo, cores repousantes, comida razoável, preços idem, não tem música de triturar os ouvidos. 2O dono senta-se à mesa da gente, para bater um papo leve, sem intimidades. 3Meu relógio parou. Pergunto-lhe quantas horas são. — Estou sem relógio. — Então vou perguntar ao garçom.
Ele também está sem relógio. — E o colega dele, que serve aquela mesa? — Ninguém está com relógio nesta casa. — Curioso. É moda nova? 4— Antes de responder, e se o senhor permite, vou lhe fazer, não propriamente um pedido, mas uma sugestão. — Pois não. — Não precisa trazer relógio, quando vier jantar. — Não entendo. — Estamos sugerindo aos nossos fregueses que façam este pequeno sacrifício. — Mas o senhor podia explicar... — Sem querer meter o nariz no que não é da minha conta, gostaria também que trouxesse pouco dinheiro, ou antes, nenhum. — Agora é que não estou pegando mesmo nada. — Coma o que quiser, depois mandamos receber em sua casa. 5— Bem, eu moro ali adiante, mas e outros, os que nem se sabe onde moram, ou estão de passagem na cidade? — Dá-se um jeito. — Quer dizer que nem relógio nem dinheiro? — Nem joias. 6Estamos pedindo às senhoras que não venham de joia. É o mais difícil, mas algumas estão atendendo. — Hum, agora já sei. — Pois é. Isso mesmo. O amigo compreende... — Compreendo perfeitamente.
Desculpa ter custado um pouco a entrar na jogada. Sou meio 7obtuso quando estou com fome. — Absolutamente. Até que o amigo compreendeu sem que eu precisasse dizer 8tudo. Muito bem. — Mas me diga uma coisa. Quando foi 9isso? — Quarta-feira passada. — E como 10foi, pode-se saber? — Como 11podia ser? Como nos outros lugares, no mesmo gurino. Só que em ponto menor. — Lógico, sua casa é pequena. Mas levaram o quê? — O que havia na caixa, pouquinha coisa. Eram 9 da noite, dia meio parado. — Que mais? — Umas coisinhas, liquidi cador, relógio de pulso, meu, dos empregados e dos fregueses.
— An. (Passei a mão no pulso, instintivamente.) — O pior foi o cofre. — Abriram o cofre? 12— Reviraram tudo, à procura do cofre. Ameaçaram, pintaram e bordaram. Foi muito desagradável. — E a nal? — Cansei de explicar a eles que não havia cofre, nunca houve, como é que eu podia inventar cofre naquela hora? — Ficaram decepcionados, imagino. — Não senhor. Disseram que tinha de haver cofre. Eram cinco, inclusive a moça de bota e revólver, querendo me convencer que tinha cofre escondido na parede, no teto, embaixo do piso, sei lá. — E o resultado? — Este — e baixou a cabeça, onde, no cocuruto, alvejava a estrela de esparadrapo. 13— Oh! Sinto muito. Não tinha notado. Felizmente escapou, é o que vale. Dê graças a Deus por estar vivo. — Já sei. Sabe que mais? Na polícia me perguntaram se eu tinha seguro contra roubo. E eu pensando que meu seguro fosse a polícia. 14Agora estou me segurando à minha maneira, deixando as coisas lá em casa e convidando os fregueses a fazer o mesmo. E vou comprar um cofre. Cofre pequeno, mas cofre. — Para que, se não vai guardar dinheiro nele? — Para mostrar minha boa-fé, se eles voltarem. Abro imediatamente o cofre, e verão que não estou escondendo nada. Que lhe parece? — Que talvez o senhor precise manter um estoque de esparadrapo em seu restaurante.
(ANDRADE, Carlos Drummond de. Esparadrapo. In Para gostar de ler. v. 3. Crônicas. São Paulo: Ática, 1978.)
A crônica, como um gênero na fronteira entre o jornalismo e a literatura, apresenta algumas características próprias de textos literários, como o uso de linguagem conotativa, ou gurada. Assinale a alternativa em que o trecho retirado do texto con gura um exemplo dessa linguagem. a) “Fica em rua sossegada, é pequeno, limpo, cores repousantes, comida razoável, preços idem, não tem música de triturar os ouvidos.” (ref. 1) b) “Antes de responder, e se o senhor permite, vou lhe fazer, não propriamente um pedido, mas uma sugestão.” (ref. 4) c) “Meu relógio parou. Pergunto-lhe quantas horas são.” (ref. 3) d) “Oh! Sinto muito. Não tinha notado. Felizmente escapou, é o que vale. Dê graças a Deus por estar vivo.” (ref. 13) e) “Bem, eu moro ali adiante, mas e outros, os que nem se sabe onde moram, ou estão de passagem na cidade?” (ref. 5)
09. (IFSC)
TEM ÁGUA NA FERVURA
O cinema produzido em Santa Catarina vive atualmente uma fase de efervescência. (...) A Antropologa, de Zeca Pires, concorreu à vaga para representar o Brasil entre os filmes que desejavam disputar o Oscar. Sandra Alves filmou Rendas no Ar. O diretor Penna Filho foi contemplado no edital referente a 2010, com o projeto Das Profundezas.
Os vencedores do prêmio estadual foram anunciados pelo Secretário Estadual de Turismo, que desenhou um quadro animador para o cinema. Em seu discurso de anúncio dos vencedores, o Secretário foi enfático. Ofereceu garantias de que o edital não será mais interrompido e seguirá com realização anual, “acompanhando o ritmo de crescimento do Estado”. (...) E não só de longas vive o cinema catarinense. O curta-metragem Qual Queijo Você Quer?, de Cíntia Domit Bittar, produzido com o prêmio de R$ 30 mil, do edital do Fundo Municipal de Cinema da Prefeitura Municipal de Florianópolis, foi selecionado para cinco importantes festivais brasileiros.
(Fonte: LIMA, Fifo. (Colaboração de Felipe Alves). Tem água na fervura. Diário Catarinense - Caderno Variedades. 14/08/2011. p. 4 - adaptado.)
Em relação à linguagem usada no texto, é CORRETO a rmar que:
a) tratando-se de um texto publicado no jornal, a linguagem utilizada é a popular, ou coloquial, com o objetivo de atingir o maior número possível de leitores. b) a linguagem predominante no texto é denotativa, mas o título do texto, assim como a expressão “desenhou um quadro animador” apresentam linguagem conotativa (ou gurada). c) o texto contém uma variedade de substantivos apropriadamente coletivos, como os títulos dos lmes, por exemplo. d) o vocabulário apresenta termos especí cos da área cinematográ ca, caracterizando-o como um texto técnico. e) por apresentar expressões diferenciadas e poéticas, como os títulos dos lmes, a linguagem do texto se caracteriza como linguagem literária.
10. Assinale a alternativa correta.
Segundo a crença popular do Nordeste, quando morrem anjinhos, ainda não acostumados com as coisas da vida e quase sem conhecer as coisas de Deus, é preciso que os seus olhos sejam mantidos abertos para que possam encontrar com mais facilidade o caminho do céu. Pois, com os olhos fechados, os anjinhos errariam cegamente pelo limbo, sem nunca encontrar a morada do Senhor.
(Sebastião Salgado)
a) Trata-se de um texto religioso, no qual o autor, por meio de uma parábola, discorre sobre as di culdades de se chegar ao céu. b) O texto apresenta uma metáfora que expressa o temor do homem simples diante da inexorabilidade das leis de Deus. c) Servindo-se de elementos mitológicos, o autor apresenta a chegada dos anjos ao reino de Deus. d) Veri ca-se no texto uma conotação político-social, pela alusão à mortalidade infantil no Nordeste e à ingenuidade do povo nordestino. e) O autor faz um retrato psicológico regionalista da angústia do homem diante da morte.
EXERCÍCIOS DE COMBATE
01. (ACAFE) Em relação às escolas literárias, marque com V as afirmações verdadeiras e com F as falsas. ( ) O Pré-Modernismo é um período de transição para o Modernismo, representado no Brasil pelos escritores Euclides da Cunha (autor de Os Sertões), Lima Barreto (autor de Triste Fim de Policarpo
Quaresma), Graça Aranha (autor de Canaã), entre outros. ( ) O Movimento Antropofágico foi uma corrente de vanguarda que marca a primeira fase da era modernista da literatura brasileira em 1922. Liderado por Mário de Andrade (1893-1945) e pela pintora Anita Malfatti (1889-1964), a finalidade principal era remodelar a cultura nacional. ( ) O Tropicalismo é um movimento cultural do fim da década de 60 que revoluciona a música popular brasileira. É iniciado no lançamento das músicas “Alegria, Alegria” de Caetano Veloso e “Domingo no Parque” de Gilberto Gil, no Festival de MPB da TV Record em 1967. Representa também uma certa ruptura com o intelectualismo da Bossa Nova e um reflexo da resistência à censura e à repressão, agravada após o AI-5 (1968). ( ) Tomás Antônio Gonzaga escreveu poesias líricas, típicas do Barroco. Fez uso de linguagem rebuscada e trabalhada ao extremo, usando muitos recursos estilísticos, figuras de linguagem e sintaxe: hipérboles, metáforas, antíteses e paradoxos. ( ) O Romantismo brasileiro caracteriza-se, em sua primeira fase, pelo indianismo e pelo nacionalismo, de que serve de exemplo a citação a seguir, extraída do romance Canção do Exílio, de Casimiro de Abreu: “Rumor suspeito quebra a doce harmonia da sesta. Ergue a virgem os olhos, que o sol não deslumbra; sua vista perturba-se. Diante dela e todo a contemplá-la está um guerreiro estranho, se é guerreiro e não algum mau espírito da floresta.”
A sequência correta, de cima para baixo, é: a) F - V - F - V - V. b) V - F - V - F - F. c) F - F - V - V - F. d) V - V - F - F - V.
02. (IFPE)
EU TENHO UM SONHO
Estou contente de me reunir com vocês nesta que será conhecida como a maior demonstração pela liberdade na história de nossa nação.
Há dez décadas, um grande americano, sob cuja sombra simbólica nos encontramos hoje, assinou a Proclamação da Emancipação. Esse magní co decreto surgiu como um grande farol de esperança para milhões de escravos negros que arderam nas chamas da árida injustiça. Ele surgiu como uma aurora de júbilo para pôr m à longa noite de cativeiro.
Mas cem anos depois, o negro ainda não é livre. Cem anos depois, a vida do negro ainda está tristemente debilitada pelas algemas da segregação e pelos grilhões da discriminação. Cem anos depois, o negro vive isolado numa ilha de pobreza em meio a um vasto oceano de prosperidade material. Cem anos depois, o negro ainda vive abandonado nos recantos da sociedade na América, exilado em sua própria terra. Assim, hoje viemos aqui para representar a nossa vergonhosa condição.
De uma certa forma, viemos à capital da nação para descontar um cheque. Quando os arquitetos da nossa república escreveram as magní cas palavras da Constituição e da Declaração da Independência, eles estavam assinando uma nota promissória da qual todos os americanos seriam herdeiros. A nota era uma promessa de que todos os homens, sim, negros e brancos igualmente, teriam garantidos os “direitos inalienáveis à vida, à liberdade e à busca da felicidade”. É óbvio neste momento que, no que diz respeito aos seus cidadãos de cor, a América não pagou essa promessa. Em vez de honrar a sagrada obrigação, a América entregou à população negra, um cheque que voltou com o carimbo de “sem fundos”. No entanto, recusamos a acreditar que o banco da justiça esteja falido. Recusamos a acreditar que não haja fundos su cientes nos grandes cofres de oportunidade desta nação. E, assim, viemos descontar esse cheque, um cheque que nos garantirá, sob demanda, as riquezas da liberdade e a segurança da justiça. [...]
Não caremos satisfeitos enquanto o negro for vítima dos inenarráveis horrores da brutalidade policial. [...] Não caremos satisfeitos enquanto nossos lhos forem despidos de sua personalidade e tiverem a sua dignidade roubada por cartazes com os dizeres “só para brancos”. [...] Não estamos satisfeitos e nem caremos satisfeitos até que “a justiça jorre como uma fonte; e a equidade, como uma poderosa correnteza”.
E digo-lhes hoje, meus amigos, mesmo diante das di culdades de hoje e de amanhã, ainda tenho um sonho, um sonho profundamente enraizado no sonho americano.
Eu tenho um sonho de que um dia esta nação se erguerá e experimentará o verdadeiro signi cado de sua crença: “Acreditamos que essas verdades são evidentes, que todos os homens são criados iguais”. [...]
Eu tenho um sonho de que os meus quatro lhos pequenos viverão um dia numa nação onde não serão julgados pela cor de sua pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. [...]
(KING JR., Martin Luther. Em: ABAURRE, M.L.M.; ABAURRE, M. B. M.; PONTARA, M. Português: contexto interlocução e sentido. São Paulo: Moderna, 2016. Vol. I)