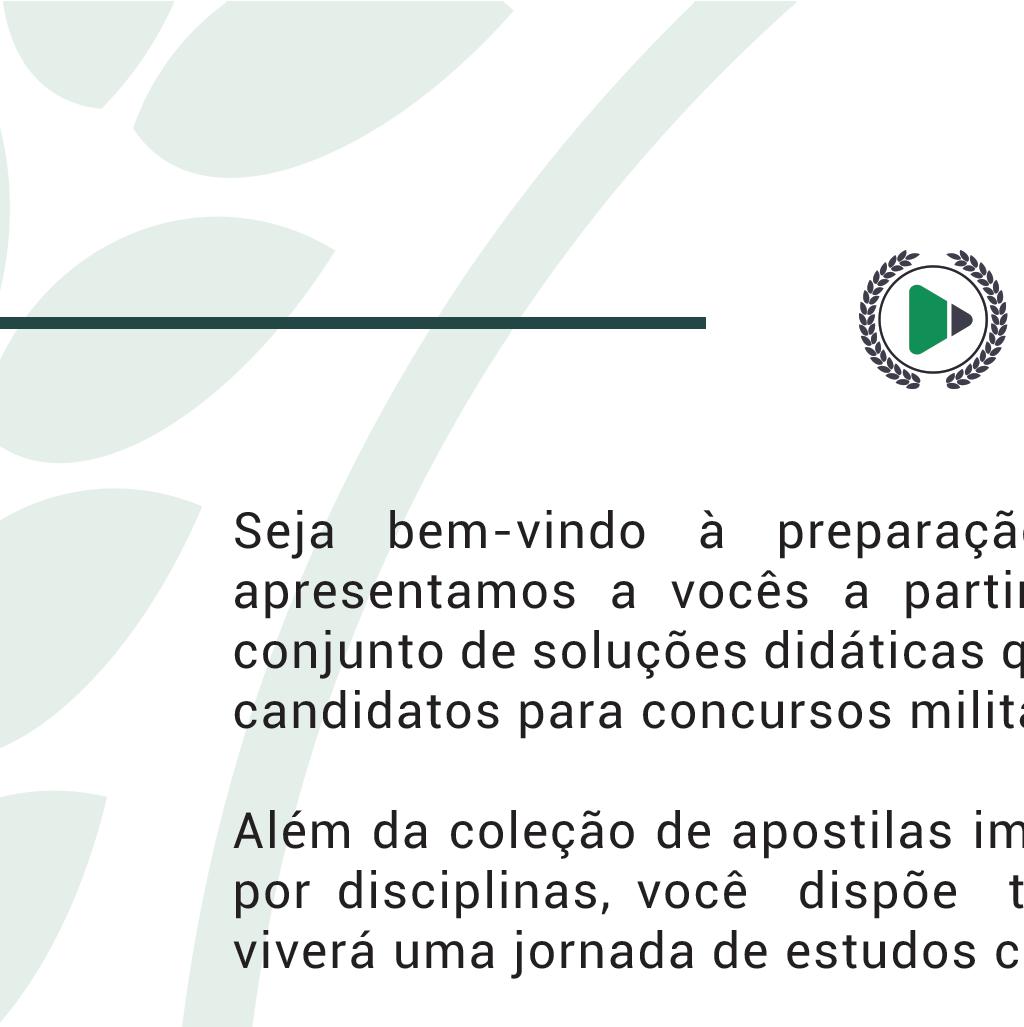51 minute read
CRESCIMENTO DEMOGRÁFICO NO BRASIL
competência pra isso. (De súbito, pedagógica, volta-se para o homem.) É como poesia, sabe, moço? Tem de ser recitada em voz alta, que é pra gente sentir o gosto. (Faz uma pausa.) Você gosta de poesia? (O homem torna a se debater. A velha interrompe o discurso e volta a lhe dar as costas, como sempre, impassível. O homem, mais uma vez, cansado, desiste.) Bem, como eu ia dizendo, pra viver bem com a solidão temos de ser proprietários dela e não inquilinos, me entende? Quem é inquilino da solidão não passa de um abandonado. É isso aí.
(ZORZETFI, H. Lições de motim. Goiânia: Kelps. 2010 - adaptado).
Advertisement
Nesse trecho, o que caracteriza Lições de motim como texto teatral? a) O tom melancólico presente na cena. b) As perguntas retóricas da personagem. c) A interferência do narrador no desfecho da cena. d) O uso de rubricas para construir a ação dramática. e) As analogias sobre a solidão feitas pela personagem.
09. (ENEM 2014) FABIANA, arrepelando-se de raiva — Hum! Ora, eis aí está para que se casou meu lho, e trouxe a mulher para minha casa. É isto constantemente. Não sabe o senhor meu lho que quem casa quer casa... Já não posso, não posso, não posso! (Batendo com o pé). Um dia arrebento, e então veremos!
(PENA, M. Quem casa quer casa. www.dominiopubiico.gov.br. Acesso em: 7 dez. 2012.)
As rubricas em itálico, como as trazidas no trecho de Martins Pena, em uma atuação teatral, constituem a) necessidade, porque as encenações precisam ser éis às diretrizes do autor. b) possibilidade, porque o texto pode ser mudado, assim como outros elementos. c) preciosismo, porque são irrelevantes para o texto ou para a encenação. d) exigência, porque elas determinam as características do texto teatral. e) imposição, porque elas anulam a autonomia do diretor.
10. (ESPCEX/AMAN) Leia o trecho a seguir e responda.
“O senhor tolere, isto é o sertão. Uns querem que não seja: que situado sertão é por os campos-gerais a fora a dentro, eles dizem, m de rumo, terras altas, demais do Urucúia. Toleima. Para os de Corinto e do Curvelo, então, o aqui não é dito sertão? Ah, que tem maior! Lugar sertão se divulga: é onde os pastos carecem de fechos; onde um pode torar dez, quinze léguas, sem topar com casa de morador; e onde criminoso vive seu cristo-jesus, arredado do arrocho de autoridade. O Urucúia vem dos montões oestes. Mas, hoje, que na beira dele, tudo dá – fazendões de fazendas, almargem de vargens de bom render, as vazantes; culturas que vão de mata em mata, madeiras de grossura, até ainda virgens dessas lá há. Os gerais corre em volta. Esses gerais são sem tamanho. En m, cada um o que quer aprova, o senhor sabe: pão ou pães, é questão de opiniães... O sertão está em toda parte.” Quanto ao trecho, é correto a rmar que a) não há ponto de vista do narrador, que apenas relata as impressões alheias. b) apresenta alguns neologismos, como “toleima”, “almargem”,
“opiniães” e “oestes”. c) não há abordagem universal, a passagem constitui apenas uma descrição do sertão. d) o trecho transpõe os limites do regional, alcançando a dimensão universal. e) transparece todo misticismo sertanejo, baseado apenas nos dois extremos: o bem e o mal.
EXERCÍCIOS DE COMBATE
01. Certa vez minha mãe surrou-me com uma corda nodosa que me pintou as costas de manchas sangrentas. Moído, virando a cabeça com di culdade, eu distinguia nas costelas grandes lanhos vermelhos. Deitaram-me, enrolaram-me em panos molhados com água de sal – e houve uma discussão na família. Minha avó, que nos visitava, condenou o procedimento da lha e esta a igiu-se. Irritada, ferira-me à toa, sem querer. Não guardei ódio a minha mãe: o culpado era o nó.
(RAMOS, G. Infância. Rio de Janeiro: Record, 1998.)
Num texto narrativo, a sequência dos fatos contribui para a progressão temática. No fragmento, esse processo é indicado a) pela a alternância das pessoas do discurso que determinam o foco narrativo. b) utilização de formas verbais que marcam tempos narrativos variados. c) indeterminação dos sujeitos de ações que caracterizam os eventos narrados. d) justaposição de frases que relacionam semanticamente os acontecimentos narrados. e) recorrência de expressões adverbiais que organizam temporalmente a narrativa.
02. Somente uns tufos secos de capim empedrados crescem na silenciosa baixada que se perde de vista. Somente uma árvore, grande e esgalhada mas com pouquíssimas folhas, abre-se em farrapos de sombra. Único ser nas cercanias, a mulher é magra, ossuda, seu rosto está lanhado de vento. Não se vê o cabelo, coberto por um pano desidratado. Mas seus olhos, a boca, a pele – tudo é de uma aridez sufocante. Ela está de pé. A seu lado está uma pedra. O sol explode.
Ela estava de pé no m do mundo. Como se andasse para aquela baixada largando para trás suas noções de si mesma. Não tem retratos na memória. Desapossada e despojada, não se abate em autoacusações e remorsos. Vive.
Sua sombra somente é que lhe faz companhia. Sua sombra, que se derrama em traços grossos na areia, é que adoça como um gesto a claridade esquelética. A mulher esvaziada emudece, se dessangra, se cristaliza, se mineraliza. Já é quase de pedra como a pedra a seu lado. Mas os traços de sua sombra caminham e, tornando-se mais longos e nos, esticam-se para os farrapos de sombra da ossatura da árvore, com os quais se enlaçam.
(FRÓES, L. Vertigens: obra reunida. Rio de Janeiro: Rocco. 1998.)
Na apresentação da paisagem e da personagem, o narrador estabelece uma correlação de sentidos em que esses elementos se entrelaçam Nesse processo, a condição humana con gura-se a) amalgamada pelo processo comum de deserti cação e de solidão. b) fortalecida pela adversidade extensiva à terra e aos seres vivos. c) redimensionada pela intensidade da luz e da exuberância local. d) imersa num drama existencial de identidade e de origem. e) imobilizada pela escassez e pela opressão do ambiente.
03. (PUC-CAMP) − Quer assunto para um conto? – perguntou o Eneias, cercando-me no corredor.
Sorri. − Não, obrigado. − Mas é assunto ótimo, verdadeiro, vivido, acontecido, interessantíssimo!
− Não, não é preciso... Fica para outra vez... − Você está com pressa? − Muita! − Bem, de outra vez será. 1Dá um conto estupendo. E com esta vantagem: aconteceu... É só orear um pouco. 2− Está bem...Então...até logo...Tenho que apanhar o elevador... 3Quando me despedia, surge um terceiro. Prendendo-me à prosa. Desmoralizando-me a pressa. − Então, que há de novo? − Estávamos batendo papo... Eu estava cedendo, de graça, um assunto notável para um conto. Tão bom, que até comecei a esboçálo, 4há tempos. Mas conto não é gênero meu − continuou o Eneias, os olhos azuis transbordando de generosidade. 5− Sobre o quê? − perguntou o outro.
Eu estava frio. Não havia remédio. Tinha que ouvir, mais uma vez, o assunto. − Um caso passado. Conheceu o Melo, que foi dono de uma grande torrefação aqui em São Paulo, e tinha uma ou várias fazendas pelo interior?
Pergunta dirigida a mim. Era mais fácil concordar.
(In: Omelete em Bombaim, 1946. Disponível em: www.academia.org.br)
É correta a seguinte observação: a) O fragmento transcrito mostra que essa narrativa reproduz uma cena bastante curta como se fosse captada mecanicamente por um cinegra sta, sem a presença da subjetividade de um narrador. b) A narrativa que se caracteriza pelo ritmo acelerado, em decorrência da grande presença da fala direta entre personagens, conta com a presença de um narrador que, onisciente, faz algumas intromissões no relato. c) Em relato realizado estritamente por meio de diálogos, as informações são transmitidas ao leitor pelo que falam ou fazem as personagens que participam da cena representada. d) O trecho é metalinguístico, pois uma personagem, Eneias, centra seu interesse em convencer, com fundamentos, um contista a escrever sobre fatos verídicos; o objetivo da personagem é legítimo, porque a veracidade do fato narrado é que caracteriza a narrativa como literária. e) No conto, os comentários de Eneias permitem compreender o que esta personagem entende que seja um conto, demonstrando seu desconhecimento de que, numa produção literária, a forma não constitui simples ornamento, mas produz sentidos.
04. Leia o texto e observe a gura a seguir.
Para Tadeusz Kantor (Polônia, 1915-1990), nada expressa melhor a vida do que a ausência de vida, sendo a morte um processo que está muito distante do religioso-sobrenatural. Ela é a condição nita da temporalidade que fundamenta o sentido da existência e que permeia o tempo todo a vida humana. Em sua concepção, o teatro se constrói na ação e não pelo aparato de reprodução literária. Um texto dramático, não fechado, não conclusivo.
(Adaptado de: CINTRA, W. F. A. A morte como poética no teatro de Tadeusz Kantor. In: VI Congresso de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas, 2010.)
(Cena da peça A classe morta, Tadeusz Kantor, 1975. Imagem disponível em: <http://www.caleidoscopio.art.br/cultural/teatro/teatrocontemporaneo/tadeuszkantor-fases-a-classe-morta-partequatro.html>. Acesso em 28 maio 2017.)
Com base no texto, na gura e nos conhecimentos sobre o teatro, na relação entre obra e contexto e na arte contemporânea, considere as a rmativas a seguir. I. A proposição teatral de Kantor se dá de acordo com a ideia de mimesis e, para ele, a função do teatro é demonstrar, a partir da definição das personagens e das suas falas, o modo como o homem e a arte se constituem na vida cotidiana. II. É perceptível, na disposição dos objetos em cena e dos atores, o modo como o autor evoca o sentido de vida e morte, intensi cado pela atmosfera criada por esses elementos. III. A concepção teatral de Kantor considera o texto não como determinante de toda ação, mas como guia; nesse sentido, o processo de construção da peça é um fator importante, cando de lado a representação da vida e, em jogo, sua presenti cação. IV. Em A classe morta, a morte é elevada à condição de elemento estético e, como elemento, constitui um processo criativo que nada tem de sobrenatural e se institui como realidade sensível. Assinale a alternativa correta. a) Somente as a rmativas I e II são corretas. b) Somente as a rmativas I e IV são corretas. c) Somente as a rmativas III e IV são corretas. d) Somente as a rmativas I, II e III são corretas. e) Somente as a rmativas II, III e IV são corretas.
05.
VIANNA (Bem sério, mas neutro, autoritário) – E aqui, antes de continuar este espetáculo, é necessário que façamos uma advertência a todos e a cada um. Neste momento, achamos fundamental que cada um tome uma posição de nida. Sem que cada um tome uma posição de nida, não é possível continuarmos. É fundamental que cada um tome uma posição, seja para a esquerda, seja para a direita. Admitimos mesmo que alguns tomem uma posição neutra, quem de braços cruzados. Mas é preciso que cada um, uma vez tomada sua posição, que nela! Porque senão, companheiros, as cadeiras do teatro rangem muito e ninguém ouve nada.
(FERNANDES, Millôr; RANGEL, Flávio. Liberdade, liberdade. Porto Alegre: LP&M Pocket, 2013. p. 31.)
Na fala transcrita, há um sentido político associado ao contexto dos primeiros anos do regime militar no Brasil. Esse sentido se expressa no emprego a) da expressão “posição neutra”, para satirizar a ideologia do partido Aliança Renovadora Nacional. b) das expressões “posição definida” e “de braços cruzados”, para criticar a extinção dos partidos políticos. c) da ordem “ que nela!”, que denuncia o poder de repressão dos anos de chumbo do governo militar. d) da rubrica “Bem sério, mas neutro, autoritário”, que ironiza a direção dada ao país pelo presidente Garrastazu Médici. e) dos termos “esquerda” e “direita”, para cobrar uma posição da sociedade diante da restrição das liberdades individuais.
06.
QUERÔ DELEGADO — Então desce ele. Vê o que arrancam desse sacana. SARARÁ — Só que tem um porém. Ele é menor. DELEGADO — Então vai com jeito. Depois a gente entrega pro
juiz.
(Luz apaga no delegado e acende no repórter, que se dirige ao público.)
REPÓRTER — E o Querô foi espremido, empilhado, esmagado de corpo e alma num cubículo imundo, com outros meninos. Meninos todos espremidos, empilhados, esmagados de corpo e alma, alucinados pelos seus desesperos, cegados por muitas a ições. Muitos meninos, com seus desesperos e seus ódios, empilhados, espremidos, esmagados de corpo e alma no imundo cubículo do reformatório. E foi lá que o Querô cresceu.
(MARCOS, P. Melhor teatro. São Paulo: Global, 2003 - fragmento).
No discurso do repórter, a repetição causa um efeito de sentido de intensi cação, construindo a ideia de a) opressão física e moral, que gera rancor nos meninos. b) repressão policial e social, que gera apatia nos meninos. c) polêmica judicial e midiática, que gera confusão entre os meninos. d) concepção educacional e carcerária, que gera comoção nos meninos. e) informação crítica e jornalística, que gera indignação entre os meninos.
07. O fragmento abaixo pertence ao gênero dramático.
MICROFONE - Buzina de automóvel. Rumor de derrapagem violenta.
Som de vidraças partidas. Silencio. Assistência. Silencio.
VOZ DE ALAIDE (microfone) - Clessi... Clessi... (Luz em resistência no plano da alucinação. 3 mesas, 3 mulheres escandalosamente pintadas, com vestidos berrantes e compridos. Decotes. Duas delas dançam ao som de uma vitrola invisível, dando uma vaga sugestão lésbica. Alaíde, uma jovem senhora, vestida com sobriedade e bom gosto, aparece no centro da cena. Vestido cinzento e uma bolsa vermelha.)
ALAIDE (nervosa) - Quero falar com Madame Clessi! Ela está? (Fala à 1ª mulher que, numa das três mesas, faz “paciência”. A mulher não responde.)
ALAIDE (com angústia) - Madame Clessi está? - pode-me dizer?
ALAIDE (com ar ingênuo) - Não responde! (com doçura) Não quer responder? (Silêncio da outra.)”
(RODRIGUES, Nelson. Teatro completo I. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1981. p. 109.)
Nesse gênero literário, o narrador é a) onisciente. b) inexistente. c) observador. d) personagem. e) distante.
08. Associe os gêneros literários às suas respectivas características. 1 – Gênero lírico 2 – Gênero épico 3 – Gênero dramático ( ) Exteriorização dos valores e sentimentos coletivos. ( ) Representação de fatos com presença física de atores. ( ) Manifestação de sentimentos pessoais predominando, assim, a função emotiva. A sequência correta, de cima para baixo, é a) 3 – 2 – 1. b) 2 – 3 – 1. c) 2 – 1 – 3. d) 1 – 3 – 2. e) 1 – 2 – 3.
09. Leia atentamente o trecho de Conto de verão nº 2: Bandeira Branca, de Luis Fernando Verissimo.
Ele: tirolês. Ela: odalisca. Eram de culturas muito diferentes, não podia dar certo. Mas tinham só quatro anos e se entenderam. No mundo dos quatro anos todos se entendem, de um jeito ou de outro. Em vez de dançarem, pularem e entrarem no cordão, resistiram a todos os apelos desesperados das mães e caram sentados no chão, fazendo um montinho de confete, serpentina e poeira, até serem arrastados para casa, sob ameaças de jamais serem levados a outro baile de Carnaval.
Encontraram-se de novo no baile infantil do clube, no ano seguinte. Ele com o mesmo tirolês, agora apertado nos fundilhos, ela de egípcia. Tentaram recomeçar o montinho, mas dessa vez as mães reagiram e os dois foram obrigados a dançar, pular e entrar no cordão, sob ameaça de levarem uns tapas. Passaram o tempo todo de mãos dadas.
Só no terceiro Carnaval se falaram. – Como é teu nome? – Janice. E o teu? – Píndaro. – O quê?! – Píndaro. – Que nome!
Ele de legionário romano, ela de índia americana.
(VERISSIMO, Luis Fernando. Histórias brasileiras de verão. Rio de Janeiro: Objetiva, 1999.)
A partir da interpretação do trecho acima, assinale a alternativa
incorreta.
a) O conto apresenta um narrador em terceira pessoa. b) Embora não descreva o ambiente de forma detalhada, o narrador apresenta algumas informações que permitem ao leitor identi car o espaço onde se passa a história narrada. c) O narrador deixa claro, desde o início, que há uma perfeita harmonia entre as duas personagens, uma vez que elas combinam em absolutamente todos os aspectos. d) A narrativa utiliza-se do discurso direto para apresentar os diálogos das personagens. e) O narrador indica claramente a passagem do tempo, que é apresentado em uma ordem cronológica direta.
10. (UERJ)
Há alguns meses fui convidado a visitar o Museu da Ciência de La Coruña, na Galícia. Ao nal da visita, o 1curador anunciou que tinha uma surpresa para mim e me conduziu ao 2planetário. Um planetário sempre é um lugar sugestivo, porque, quando se apagam as luzes, temos a impressão de estar num deserto sob um céu estrelado. Mas naquela noite algo especial me aguardava.
De repente a sala cou inteiramente às escuras, e ouvi um lindo acalanto de Manuel de Falla. Lentamente (embora um pouco mais
depressa do que na realidade, já que a apresentação durou ao todo quinze minutos) o céu sobre minha cabeça se pôs a rodar. Era o céu que aparecera sobre minha cidade natal – Alessandria, na Itália – na noite de 5 para 6 de janeiro de 1932, quando nasci. 3Quase hiperrealisticamente vivenciei a primeira noite de minha vida.
Vivenciei-a pela primeira vez, pois não tinha visto essa primeira noite. Provavelmente nem minha mãe a viu, exausta como estava depois de me dar à luz; mas talvez meu pai a tenha visto, ao sair para o terraço, um pouco agitado com o fato maravilhoso (pelo menos para ele) que testemunhara e ajudara a produzir.
O planetário usava um artifício mecânico que se pode encontrar em muitos lugares. Outras pessoas talvez tenham passado por uma experiência semelhante. Mas vocês hão de me perdoar se durante aqueles quinze minutos tive a impressão de ser o único homem desde o início dos tempos que havia tido o privilégio de se encontrar com seu próprio começo. Eu estava tão feliz que tive a sensação – quase o desejo – de que podia, deveria morrer naquele exato momento e que qualquer outro momento teria sido inadequado. Teria morrido alegremente, pois vivera a mais bela história que li em toda a minha vida. 4Talvez eu tivesse encontrado a história que todos nós procuramos nas páginas dos livros e nas telas dos cinemas: uma história na qual as estrelas e eu éramos os protagonistas. Era cção porque a história fora reinventada pelo curador; era História porque recontava o que acontecera no cosmos num momento do passado; era vida real porque eu era real e não uma personagem de romance.
(Umberto Eco. Adaptado de Seis passeios pelos bosques da cção. Tradução: Hildegard Feist. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.)
1curador − responsável pelo museu. 2planetário − local onde é possível reproduzir o movimento dos astros. Umberto Eco narra, no segundo parágrafo do texto, uma experiência surpreendente que vivenciou. Pode-se compreender essa experiência pela relação que se estabelece entre os seguintes elementos: a) tempo cronológico e reconstrução ccional. b) avanço tecnológico e ilusão cinematográ ca. c) registro documental e sonho cotidiano. d) narrativa biográ ca e história universal.
GABARITO
EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO
01. B 02. B 03. C 04. C 05. E 06. D
EXERCÍCIOS DE TREINAMENTO
01. D 02. B 03. A 04. B 05. B 06. C
EXERCÍCIOS DE COMBATE
01. B 02. A 03. E 04. E 05. E 06. A
ANOTAÇÕES
07. A 08. D 09. C
07. A 08. D 09. B
07. B 08. B 09. C 10. B
10. D
10. A
AS ORIGENS DA LITERATURA PORTUGUESA: TROVADORISMO, HUMANISMO E CLASSICISMO
A literatura portuguesa ganha identidade na Idade Média, quando Portugal se constitui como país independente. As primeiras manifestações literárias portuguesas são o berço também da nossa literatura. Por isso, vamos conhecê-las.
TROVADORISMO
INTRODUÇÃO
• O ideal cavalheiresco
A Literatura medieval expressa vivamente o espírito cavalheiresco, mescla valores aristocráticos e religiosos, como se pode notar nas novelas de cavalaria e na poesia trovadoresca. As novelas de cavalaria deram vazão, principalmente, ao espírito épico cavalheiresco.
Trata-se de composições narradas em prosa que celebram feitos de armas de heróis exemplares, como os cavaleiros da Távola Redonda do rei Artur, enaltecendo suas virtudes guerreiras e morais, de acordo com o ideal ascético do cristianismo.
A poesia trovadoresca provençal, por sua vez, foi a expressão mais alta do lirismo europeu medievo, anterior a Dante e Petrarca.
• O nascimento da poesia portuguesa
Na época em que Portugal formou-se como nação independente, falava-se o galego-português, uma língua muito próxima do português, mas ainda fortemente mesclada a outra variante, o galego. Nesse momento, foram sendo registradas várias manifestações líricas de origens diversas.
A tradição oral é a origem mais provável desse tipo de literatura, que se manifestou de formas diferentes e lançou mão de procedimentos próprios. Assim, é possível reconhecer, na lírica medieval portuguesa, tipos diferentes de composição. A essas composições chamamos cantigas, e as dividimos em: • cantigas de amor; • cantigas de amigo; • cantigas de escárnio; • cantigas de maldizer.
CANTIGAS DE AMOR
O Trovadorismo é uma manifestação cultural que começa a orescer em Portugal depois de intenso período de guerras para garantir a posse da terra. Os poemas eram recitados ao som de instrumentos como a lira, a cítara e a harpa.
Na nova nação portuguesa, as manifestações sociais incluíam a convivência ao redor dos castelos, e, dentro dos palácios, os trovadores cantavam suas cantigas para deleite da nobreza. Por essa razão, esse tipo de composição é conhecida como poesia palaciana.
Os trovadores eram, em geral, pessoas de origem nobre, com uma bagagem cultural considerável, e lidavam de forma livre com questões políticas. A origem nobre de sua poesia re ete-se no vocabulário rebuscado de suas composições e na temática altamente subjetiva de seus versos.
D. Dinis, um dos reis de Portugal, pertencente à primeira dinastia, foi um trovador conhecido e bastante produtivo. São suas as mais conhecidas cantigas de amor portuguesas.
As cantigas de amor possuem características estilísticas que as tornam singulares no cenário lírico da Idade Média. Acompanhe o exemplo para entender melhor.
Quer’eu em maneira de proençal fazer agora un cantar d’amor, e querrei muit’i loar mia senhor a que prez nen fremusura non fal, nen bondade; e mais vos direi en: tanto a fez Deus comprida de bem que mais que todas las do mundo val.
Ca mia senhor quiso Deus fazer tal, quando a faz, que a fez sabedor de todo ben e de mui gran valor, e con todo est’é mui comunal ali u deve; er deu-lhi bon sen, e des i non lhi fez pouco de ben, quando non quis que lh’outra foss’igual.
Ca en mia senhor nunca Deus pôs mal, mais pôs i prez e beldad’e loor e falar mui ben, e riir melhor que outra molher; des i é leal muit’, e por esto non sei oj’eu quen possa compridamente no seu ben falar, ca non á, tra-lo seu ben, al.
Características das cantigas de amor: • o eu poético é sempre o homem, que se dirige à sua senhora ou fala dela; • a identidade da amada é mantida em segredo – que, nas cantigas, denomina-se senhal; • o tema das cantigas de amor é o amor impossível; • a mulher é cortejada e reverenciada ao extremo; • a reverência e a cortesia são discretas, de modo a não expor seus sentimentos, conforme as regras do amor cortês; • o poeta sofre profundamente por seu amor, o qual não pode se realizar (“coita de amor”); • o destino do poeta, em face de seu amor impossível e implacável, é enlouquecer ou morrer.
A mais importante característica das cantigas de amor, contudo, é o fato de elas fazerem um culto ao próprio amor, não à mulher. Em todos os versos, a cortesia amorosa dirigida à dama é uma forma de amar o amor.
CANTIGAS DE AMIGO
As cantigas de amigo eram recitadas, ou cantadas, pelo jogral, e diferem das cantigas de amor pelos seguintes elementos: • a voz lírica é feminina, ou seja, o jogral canta a cantiga representando uma mulher; • o eu poético é uma donzela, de classe popular, que canta a saudade do amigo, que é, na verdade, o namorado; • o poema tem como tema central a experiência amorosa, que pode se concretizar;
• o cenário é sempre o campo, a ribeira, ou seja, o cenário fora do palácio.
O m da era medieval
No m da Idade Média, a Europa passava por um momento de muitas transformações, tanto na política quanto na cultura e na religião. O regime feudal estava em franca decadência, veri cavase a queda da divisão entre senhores e escravos. As modi cações econômicas e sociais foram dando lugar ao crescimento das cidades e à constituição de uma nova classe em ascensão.
As calamidades que abalaram a Europa, no nal do século XIV, causaram mudanças signi cativas e permanentes na sociedade: as guerras pelo domínio das terras e pela conquista de territórios, a Peste Negra e a Reforma Protestante, que institucionalizou as mudanças na fé católica, representaram fatores determinantes na modi cação da forma de pensar.
Assim, a evolução cultural e social iniciada na Idade Média originou um movimento cultural baseado na busca pelo conhecimento e na imitação dos modelos clássicos. Uma nova concepção de ser humano, encarado em sua integralidade e reconhecido por sua capacidade de pensar e criar, modelou a sociedade e a cultura, começando a fase histórica hoje conhecida como o Renascimento.
O HUMANISMO
Humanismo é o nome de um movimento intelectual, de uma doutrina losó ca e de uma postura artística que representa a transição entre a cultura europeia medieval e a do Renascimento. Teve início na Itália, entre o m do século XIII e o início do XIV, no “outono da Idade Média”.
PANORAMA HISTÓRICO
A revolução cultural do Humanismo assenta-se sobre dois princípios fundamentais: a volta às origens do cristianismo e a revalorização do legado cultural da Antiguidade clássica.
A proposta de retorno ao cristianismo original continha certo repúdio ao comportamento da Igreja romana. Repugnava aos humanistas o autoritarismo da Igreja medieval e seus desvios em relação às fontes da doutrina cristã, que são os Evangelhos. Essa atitude de rebeldia não pretendia romper com a Igreja, mas regenerála. No entanto, desencadeou um processo de crítica que levou à contestação de dogmas intocáveis.
A difusão dos estudos clássicos (ou seja, o estudo da língua, Literatura, Filoso a, Religião e História da Antiguidade greco-romana), na Baixa Idade Média, despertou o interesse pela investigação da natureza e o gosto pela especulação racional.
Os humanistas trouxeram de novo uma atitude de liberdade intelectual. Essa independência levou a conquistas que abalaram o teocentrismo. A valorização do homem e da natureza está entre as mais expressivas dessas conquistas.
Considera-se marco inicial do Humanismo português a nomeação de Fernão Lopes para o cargo de Guarda-Mor da Torre do Tombo (1418), ou sua promoção a Cronista-Mor do Reino, em 1434.
Portugal não conheceu a descentralização política do feudalismo, da forma como esse sistema se veri cou no resto da Europa. Desde a fundação do reino, por D. Afonso Henriques, no século XII, o poder esteve centralizado no monarca. Com a dinastia de Avis, fundada por D. João I, em 1385, a monarquia fortaleceu-se cada vez mais, até que o absolutismo se con gurou como forma de governo no reinado de D. João II (1481-1495).
A época do Humanismo em Portugal (1418-1527), em grande medida, confunde-se com o período histórico da dinastia de Avis (1385-1580), quando o país viveu profundas transformações. Além da mencionada implantação do absolutismo, deu-se a expansão marítima, que transformou Portugal em um grande e rico império. Em função disso, Lisboa tornou-se uma das cidades mais importantes da Europa, um polo de atração de capital, inteligências e aventureiros de toda parte.
São três as manifestações literárias no Humanismo lusitano: a crônica histórica de Ferrão Lopes; a poesia do Cancioneiro geral de Garcia de Resende e o teatro de Gil Vicente. Devido à sua contribuição cultural histórica, a seguir daremos destaque ao último artista mencionado.
Na segunda época medieval, transição entre a literatura trovadoresca e o Renascimento, a produção literária conviveu com o surgimento do teatro vicentino, ou seja, com textos dramáticos escritos por Gil Vicente, poeta e dramaturgo português.
O TEATRO VICENTINO
Gil Vicente foi um importante autor para a literatura em língua portuguesa, cujas obras in uenciam a produção teatral até hoje. Ele produziu diversas peças de teatro, conferindo originalidade e provocando o riso não só da Corte, mas também do povo. A obra de Gil Vicente não segue o formato do teatro clássico, rompendo com a lei das três unidades de tempo, ação e espaço, mas se espalha pelo teatro medieval, em que era comum encenarem-se pequenas peças, por ocasião das comemorações religiosas.
A obra de Gil Vicente, sobretudo no que se refere ao debate de ideias e de valores da época, pode ser considerada anunciadora de uma nova época, ou seja, os ideais e o modo de pensar medievais começam a ser substituídos pelas crenças renascentistas. Uma vez que valores vigentes são questionados, ainda que sob forte percepção moralista, nota-se a intenção de corrigir os costumes por meio do riso. O teatro de sátira social vicentino aborda qualquer classe, dalguia ou clero, de forma contundente, expondo as feridas sociais de seu tempo; ao passo que as obras de temática religiosa contrabalançam essa postura.
A simplicidade da linguagem, aliada à poesia que perpassa os textos, bem como os temas abordados, imortalizam a obra de Gil Vicente, tornando-o grande exemplo do teatro em língua portuguesa.
O CLASSICISMO
Classicismo é o nome da escola artística do Renascimento. Suas ideias e realizações são fruto dos estudos greco-romanos do Humanismo. Iniciado na Itália, no século XV, o Classicismo difundiu-se pela Europa ao longo do XVI.
PANORAMA HISTÓRICO
Assim como a ciência, a arte do Renascimento voltou-se decididamente para a natureza. Entendia-se que a obra de arte deveria imitar a natureza. Os renascentistas encontraram em Aristóteles esse conceito, que de nia a arte como mimesis (imitação da natureza; imitação da realidade; imitação da vida).
O Classicismo do Renascimento é o culto e a prática dos valores artísticos presentes nos autores da Antiguidade greco-romana, considerados de classe (de alta qualidade), daí o nome do movimento.
Os clássicos do Renascimento estudaram e imitaram os clássicos da Antiguidade, voltando à prática de formas e gêneros literários antigos, como a epopeia, a ode, a elegia, a tragédia, a comédia etc. Assimilaram, também, a ideia grega de que arte é expressão de Beleza.
Serenidade, sobriedade e racionalismo são três características do Classicismo, também decorrentes da sabedoria grega, que recomendava: nada em excesso. A razão deveria predominar sobre a emoção.
O Renascimento e o Classicismo do século XVI revitalizaram a herança greco-romana, combinando-a com o legado do cristianismo, de maneira a dar a estes novos signi cados e perspectivas. Na prática literária, a mescla de motivos pagãos e motivos cristãos é chamada fusionismo.
O CLASSICISMO EM PORTUGAL: LUÍS DE CAMÕES
O maior poeta da língua portuguesa, aquele que lhe deu sua feição mais elevada. Quanto à poesia lírica, Camões teve, em vida, publicadas quatro composições: dois sonetos, uma ode e uma elegia, sendo um dos sonetos de autoria duvidosa. Toda a produção lírica restante é de publicação póstuma.
Os Lusíadas é um canto de louvor à glória do povo português, verdadeiro protagonista do poema, como sugere o próprio título, que signi ca “os lusitanos”, isto é, “os portugueses”.
Quando Camões escreveu sua obra, Portugal estava no auge de seu império, conquistado na aventura heroica de sua gente, pioneira no desbravamento do mar desconhecido. Os Lusíadas narram o momento máximo dessa aventura, a viagem em que Vasco da Gama descobriu o caminho marítimo para a Índia, em 1498, marco da expansão renascentista do mundo ocidental. Por isso, o interesse do poema não é exclusivamente nacionalista. Sem dúvida, o tom patriótico que exalta a superioridade lusitana é muito forte, mas os portugueses representam a cultura ocidental renascentista, o que dá ao poema um valor universal.
EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO
01. Leia.
Labor de clero é orar a Deus.
E justiça, de cavaleiro.
O pão arranjam-lhe os trabalhadores.
Um alimenta, outro ora, o terceiro defende, no campo, na cidade, no mosteiro; interajudam-se em seus misteres,
Todos os três para a boa ordem
(Poema do século XIII, autor desconhecido)
Sobre o poema medieval acima, assinale a alternativa correta: a) O poema encaixa-se no antropocentrismo predominante no período medieval. b) O poema retrata a divisão da sociedade feudal em três ordens: clero (os que oram), nobres (os que guerreiam e que fazem a justiça) e os servos (os que trabalham). c) O poema rea rma o predomínio dos interesses rurais no período, uma vez que não existiam cidades durante a Idade Média. d) O poema, por não citar a burguesia como uma classe social em ascensão no século XIII, re ete uma crítica ao mundo urbano predominante no período.
02. Leia o fragmento do samba enredo apresentado pela escola de samba Unidos da Tijuca, em 2004, para responder à questão.
Nessa máquina do tempo, eu vou
Vou viajar... Com a Tijuca te levar
À era do Renascimento
De sonhos, e criação
Desejos, transformação
Acreditar, desa ar
Superar os limites do homem
Brincar de Deus, criar a vida
Querer voar e utuar (...)
(Disponível em <http://zip.net/btmRkT>. Acesso em 16 mar. 2014.)
Levando-se em conta a relação intertextual estabelecida pelo texto e o Classicismo, o fragmento exempli ca a a) condenação aos ideais divulgados pela Reforma Protestante. b) força do contexto religioso de acordo com a visão teocêntrica. c) indagação sobre a submissão humana às forças divinas. d) observação à tradição cristã legada pelas ideias da Igreja Católica. e) valorização da inteligência, do conhecimento e do dom artístico.
03. Foi no ímpeto revolucionário da Renascença, e como desenvolvimento natural do Humanismo, que o Classicismo se difundiu amplamente, por corresponder, no plano literário, ao geral e efêmero complexo de superioridade histórica. Ao teocentrismo medieval opõe-se uma concepção antropocêntrica do mundo, em que o “homem é a medida de todas as coisas”, no redivivo dizer de Protágoras. Ao teologismo de antes contrapõe-se o paganismo, fruto duma sensação de pleno gozo da existência, provocada pela vitória do homem sobre a Natureza e seus assombramentos: não mais a volúpia de ascender para as alturas, mas sim de estender o olhar até os con ns da Terra. O saber concreto, “cientí co” e objetivo, tende a valorizarse em detrimento do abstrato; notável avanço opera-se no campo das ciências experimentais; a mitologia greco-romana, esvaziada de signi cado religioso ou ético, passa a funcionar apenas como símbolo ou ornamento; em suma: o humano prevalece ao divino.
(MOISÉS, Massaud. A literatura portuguesa. 36. ed. São Paulo: Cultrix, 2004. p. 50.)
São mudanças históricas ocorridas no período descrito por Massaud Moisés, exceto: a) Ao colocar o homem no centro do universo, o Humanismo permite novas perspectivas de pensamento. b) As navegações e descobrimentos, no contato com culturas diversas, provocam novas formas de ver o mundo. c) A teoria heliocêntrica revoluciona as bases do pensamento e da relação do homem com a Natureza. d) Apesar disso tudo, a religião católica continua inabalável em suas formas de pensar o homem e o mundo. e) A cultura e o saber clássicos, como as artes e a loso a, ganham amplo espaço para divulgação e estudos.
04. Observe as duas imagens a seguir e responda:
Ambas as pinturas representam motivos comuns, mas pertencem a diferentes períodos da história. A partir de sua observação, pode-se a rmar que a) ambas as obras, por representarem ao centro guras humanas, são humanistas e, por consequência, renascentistas. b) ambas as obras se prendem à religiosidade medieval ao representarem motivos bíblicos. c) a pintura de Rafael faz uma representação mais humanizada dos personagens bíblicos através de detalhes mais realistas, sendo, por esse motivo inusitado, renascentista. d) a representação do menino Jesus como um adulto em miniatura no quadro de Duccio simboliza sua sabedoria e conhecimento, sendo, portanto, renascentista. e) ambas as pinturas apresentam, nos personagens cristãos, guras

humanizadas, próximas do homem comum e condizente com a estética renascentista.
05. Observe o poema.
Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,
Muda-se o ser, muda-se a con ança;
Todo o mundo é composto de mudança,
Tomando sempre novas qualidades.
Continuamente vemos novidades, Diferentes em tudo da esperança; Do mal cam as mágoas na lembrança, E do bem, se algum houve, as saudades.
O tempo cobre o chão de verde manto, Que já coberto foi de neve fria, E en m converte em choro o doce canto.
E, afora este mudar-se cada dia, Outra mudança faz de mor espanto: Que não se muda já como soía.
(CAMÕES, Luís de. Luís de Camões: obra completa.)
A obra de Luís de Camões vai da lírica amorosa à épica, sendo marcada pela coexistência de tradição e inovação, mitologia e cristianismo, paixão carnal e idealismo amoroso etc. Sobre o soneto em análise, é correto a rmar: a) Re ete, de forma platônica, sobre as mudanças que a igem o mundo. b) Propõe uma re exão de cunho losó co e teor saudosista sobre um mundo estável. c) Propõe uma re exão losó ca sobre a mudança das estações, evidente na terceira estrofe. d) Re ete sobre a forma como o ser e o mundo mudam para melhor, sentimento comum no Renascimento. e) Propõe uma re exão de cunho losó co sobre a instabilidade do mundo, comum ao Renascimento.
06. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói, e não se sente; é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer.
É um não querer mais que bem querer; é um andar solitário entre a gente; é nunca contentar-se de contente; é um cuidar que ganha em se perder.
É querer estar preso por vontade; é servir a quem vence, o vencedor; é ter com quem nos mata, lealdade.
Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo Amor?
(CAMÕES, Luís de. In: SALGADO JÚNIOR, Antônio)
Luís Vaz de Camões é a grande gura do Classicismo português. A respeito dos aspectos temáticos e formais da linguagem desse soneto, é correto a rmar: a) O sentimento amoroso é expresso como uma metáfora da compreensão do amor. b) A análise de fundo racional, intelectual, conduz ao esclarecimento do sentimento amoroso. c) O amor é mensurado pelo poeta através dos paradoxos e antíteses do poema. d) As contradições e os paradoxos representam a separação entre sentir e pensar. e) O amor é um sentimento/tema inconceituável e só pode ser expresso por meio de antíteses e paradoxos.
07. Sete anos de pastor Jacob servia
Labão, pai de Raquel, serrana bela; mas não servia ao pai, servia a ela, e a ela só por soldada pretendia.
Os dias na esperança de um só dia passava, contentando-se com vê-la; porém o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava Lia.
Vendo o triste pastor que por enganos lhe fora assi negada sua pastora, como se a não tivera merecida,
tornando já a servir outros sete anos, dezia: – Mais servir(i)a, se não fora p[e]ra tão longo(s) a[m]o[r] tão curta vida.
(Luís de Camões)
Diante da gura feminina, o eu lírico valoriza neste texto a(o) a) submissão do homem à sua amada. b) obediência aos preceitos religiosos. c) poder das mulheres daquela época. d) servidão dos pastores a seus amos. e) nulidade do amor diante do mundo.
08. O ciclo mais conhecido das novelas de cavalaria é o ciclo arturiano ou ciclo bretão. Leia uma síntese dessa história.
“[...] Em síntese, A Demanda do Santo Graal contém o seguinte: em torno da “távola redonda”, em Camelot, reino do Rei Artur, reúnem-se dezenas de cavaleiros. É véspera de Pentecostes. Chega uma donzela à Corte e procura por Lancelote do Lago. Saem ambos e vão a uma igreja, onde Lancelote arma Galaaz cavaleiro e regressa com Boorz a Camelot. Um escudeiro anuncia o encontro de maravilhosa espada ncada numa pedra de mármore boiando n’água. Lancelote e os outros tentam arrancá-la debalde. Nisto Galaaz chega sem se fazer anunciar e ocupa a seeda perigosa (= cadeira perigosa) que estava reservada para o cavaleiro “escolhido”: das 150 cadeiras, apenas faltava preencher uma, destinada a Tristão. Galaaz vai ao rio e arranca a espada do pedrão. A seguir, entregam-se ao torneio. Surge Tristão para ocupar o último assento vazio. Em meio ao repasto, os cavaleiros são alvoroçados e extasiados com a aérea aparição do Graal (= cálice), cuja luminosidade sobrenatural os trans gura e alimenta, posto que dure só um breve momento. Galvão sugere que todos saiam à demanda (= à procura) do Santo Graal. No dia seguinte, após ouvirem missa, partem todos, cada qual por seu lado. Daí para a frente, a narração se entrelaça, se emaranha, a m de acompanhar as desencontradas aventuras dos cavaleiros do Rei Artur, até que, ao cabo, por perecimento ou exaustão, cam reduzidos a um pequeno número. E Galaaz, em Sarras, na plenitude do ofício religioso, tem o privilégio exclusivo de receber a presença do Santo Vaso, símbolo da Eucaristia, e, portanto, da consagração de uma vida inteira dedicada ao culto das virtudes morais, espirituais e físicas. [...]”
(Disponível em: <http://auladeliteraturaportuguesa.blogspot.com.br/ 2007/01/demanda-do-santo-graal.html> Acesso em 23 set. 2012.)
Galaaz será “o escolhido” para encontrar o Graal. Dentro desse contexto de religiosidade, qual seria o ideal mais importante apresentado pelo cavaleiro para ser digno de receber a presença do Cálice Sagrado? a) castidade b) coragem c) generosidade d) lealdade e) nobreza
TEXTO PARA AS QUESTÕES 09 E 10:
Uma das peças mais famosas e conhecidas de Gil Vicente (1465?- 1536?) é, sem dúvida, o Auto da Barca do Inferno, texto escrito em homenagem à rainha de Portugal, D. Maria, sua sempre protetora. Neste auto, as personagens vão às barcas do Anjo e do Diabo, procurando aquela que as levará à vida eterna. O trecho a seguir apresenta Joane, o Parvo.
VEM JOANE, O PARVO, E DIZ AO ARRAIS DO INFERNO:
Parvo — Hou daquesta! Diabo — Quem é? Parvo — Eu soo. É esta a naviarra nossa? Diabo — De quem? Parvo — Dos tolos. Diabo — Vossa. Entra! Parvo — De pulo ou de voo? Hou! Pesar de meu avô! Soma, vim adoecer e fui má hora morrer, e nela, para mi só. Diabo — De que morreste? Parvo — De quê? Samicas de caganeira. Diabo — De quê? Parvo — De caga merdeira! Má rabugem que te dê! Diabo — Entra! Põe aqui o pé! Parvo — Houlá! Nom tombe o zambuco! Diabo — Entra, tolaço eunuco, que se nos vai a maré! Parvo — Aguardai, aguardai, houlá! E onde havemos nós d’ir ter? Diabo — Ao porto de Lucifer. Parvo — Ha-á-a... Diabo — Ó Inferno! Entra cá! Parvo — Ò Inferno?... Era má... Hiu! Hiu! Barca do cornudo. Pêro Vinagre, beiçudo, rachador d’Alverca, huhá! Sapateiro da Candosa! Antrecosto de carrapato! Hiu! Hiu! Caga no sapato, lho da grande aleivosa! Tua mulher é tinhosa e há-de parir um sapo chantado no guardanapo! Neto de cagarrinhosa!
(Domínio público)
09. A leitura do texto permite inferir que a) a cantiga do Parvo ofende o Diabo e sua esposa, sendo criticada pelo Anjo. b) “Antrecosto de carrapato!” e “há-de parir um sapo” fazem de
Joane um ser pior que o Diabo. c) Joane merece passar pela barca do Anjo devido à sua humildade e falta de malícia. d) o Diabo assusta-se com o comportamento do Parvo, impressionado com sua falta de gentileza. e) o Parvo era extremamente mal-educado, visto que falava muitos palavrões. 10. O Parvo recebe essa denominação, porque a) canta ofendendo o Diabo e outras pessoas, recebendo, por isso, severa censura do Anjo. b) é pior que o Diabo, sendo também chamado pejorativamente de
“Antrecosto de carrapato”. c) é humilde e sem malícia, tornando-se, portanto, homem digno de entrar na barca do Anjo. d) age de modo adequado, mesmo falando palavras torpes, pois re ete calmamente para falar. e) gosta de ser aplaudido, construindo sua fala de modo crítico e articulado diante dos demais.
EXERCÍCIOS DE TREINAMENTO
01. (ESPCEX/AMAN) Epopeia é uma longa narrativa em versos que ressalta os feitos de um herói, protagonista de fatos históricos ou maravilhosos. A maior das epopeias da Língua Portuguesa é Os Lusíadas, de Camões, em que o grande herói celebrado é: a) Diogo Álvares Correia. b) Fernão de Magalhães. c) O Gigante Adamastor. d) Vasco da Gama. e) Cristóvão Colombo.
02. (ESPCEX/AMAN) É correto a rmar sobre o Trovadorismo que a) os poemas são produzidos para serem encenados. b) as cantigas de escárnio e maldizer têm temáticas amorosas. c) nas cantigas de amigo, o eu lírico é sempre feminino. d) as cantigas de amigo têm estrutura poética complicada. e) as cantigas de amor são de origem nitidamente popular.
03. (ESPCEXAMAN) Considerando a imagem da mulher nas diferentes manifestações literárias, pode-se a rmar que a) nas cantigas de amor, originárias da Provença, o eu lírico é feminino, mostrando o outro lado do relacionamento amoroso. b) no Arcadismo, a louvação da mulher é feita a partir da escolha de um aspecto físico em que sua beleza se iguale à perfeição da natureza. c) no Realismo, a mulher era idealizada como misteriosa, inatingível, superior, perfeita, como nas cantigas de amor. d) a mulher moderna é inferiorizada socialmente e utiliza a dissimulação e a sedução, muitas vezes desencadeando crises e problemas. e) a mulher barroca foi apresentada como arquétipo da beleza, evidenciando o poder por ela conquistado, enquanto os homens viviam uma paz espiritual.
04. Leia.
SONETO
Tanto de meu estado me acho incerto, Que em vivo ardor tremendo estou de frio; Sem causa, juntamente choro e rio, O Mundo todo abarco e nada aperto.
É tudo quanto sinto um desconcerto: Da alma um fogo me sai, da vista um rio; Agora espero, agora descon o; Agora desvario, agora acerto.
Estando em terra, chego ao Céu voando; Num’hora acho mil anos, e é de jeito Que em mil anos não posso achar um’hora.
Se me pergunta alguém porque assim ando, Respondo que não sei, porém suspeito Que só porque vos vi, minha Senhora.
(CAMÕES, Luís de. Luís de Camões – Lírica. 5. ed. São Paulo: Cultrix,1976. p.117.)
Analise as assertivas. I. No verso: “Que só porque vos vi, minha Senhora”, pode-se depreender que há um diálogo com as cantigas de amigo. II. No verso: “Estando em terra, chego ao Céu voando”, podese depreender que há uma ideia de exagero com o objetivo de expressar intensidade, ou seja, uma gura de linguagem conhecida como hipérbole. III. Pode-se a rmar que há uma gura de linguagem conhecida como metonímia nos seguintes versos: “Agora espero, agora descon o;/
Agora desvario, agora acerto”. IV. Quanto ao soneto apresentado, pode-se a rmar que a escolha do léxico e a estrutura formal remetem à atitude clássica. Pode-se a rmar, ainda, que a inquietação do eu lírico manifesta-se por meio das antíteses, por exemplo: “ardor x frio”; “terra x Céu”, entre outros. É correto o que se a rma em a) I e II, apenas. b) III e IV, apenas. c) II e IV, apenas. d) I, III e IV, apenas. e) II e III, apenas.
05. Inspiradas na poesia provençal, as cantigas trovadorescas são consideradas as primeiras manifestações literárias portuguesas. O movimento literário em que elas surgiram cou conhecido como Trovadorismo. Sobre o Trovadorismo, assinale a alternativa correta. a) As cantigas trovadorescas foram transmitidas apenas em cópias e recolhidas somente em duas importantes antologias, denominadas Cancioneiros, únicos documentos que restam para o conhecimento do Trovadorismo: Cancioneiro da Ajuda e
Cancioneiro da Biblioteca Nacional. b) O Trovadorismo foi um movimento artístico literário que predominou no século XVII, na Europa. Esse estilo surgiu em
Roma, na Itália, expandiu-se por outros países da Europa, como
Portugal, logo após seu surgimento, mas foi na Espanha que ele se tornou vigoroso. c) Em Portugal, as cantigas trovadorescas são classi cadas em cantigas líricas (cantigas de amor e cantigas de amigo) e cantigas satíricas (cantigas de escárnio e cantigas de maldizer). d) No Trovadorismo, o pensamento religioso, espiritualista, predominante na época, numa visão teocentrista (em que Deus, do grego Teos, está no centro das preocupações humanas), dá lugar a uma visão antropocentrista (em que o homem, do grego anthropos, está no centro das realizações do universo humano). e) As características formais e temáticas das cantigas de amigo eram: in uência das cantigas provençais, originárias do Sul da
França; eu lírico masculino que evoca a mulher amada usando a forma de tratamento “Minha senhora” (“Mia senhor”, “Mia dona”); exaltação das virtudes da beleza da amada inatingível; e predomínio do sentimento amoroso. O DIA EM QUE NASCI MOURA E PEREÇA
O dia em que nasci moura e pereça, Não o queira jamais o tempo dar; Não torne mais ao Mundo, e, se tornar, Eclipse nesse passo o Sol padeça.
A luz lhe falte, O Sol se [lhe] escureça, Mostre o Mundo sinais de se acabar, Nasçam-lhe monstros, sangue chova o ar, A mãe ao próprio lho não conheça.
As pessoas pasmadas, de ignorantes, As lágrimas no rosto, a cor perdida, Cuidem que o mundo já se destruiu. Ó gente temerosa, não te espantes, Que este dia deitou ao Mundo a vida Mais desgraçada que jamais se viu!
(CAMÕES, Luis Vaz de. 200 sonetos. Porto Alegre: L&PM, 1998.)
No poema de Camões a visão de mundo expressa pelo eu lírico está baseada na ideia de: a) alegria de viver. b) valorização da natureza. c) sentimento ór co. d) manifestação divina. e) desconcerto do mundo.
07. (IFSP 2016) Leia o soneto abaixo, de Luís Vaz de Camões, para responder à questão.
Eu cantarei de amor tão docemente,
Por uns termos em si tão concertados que dois mil acidentes namorados faça sentir ao peito que não sente.
Farei que amor a todos avivente, pintando mil segredos delicados, brandas iras, suspiros magoados, temerosa ousadia e pena ausente.
Também, Senhora, do desprezo honesto de vossa vista branda e rigorosa contentar-me-ei dizendo a menos parte.
Porém, para cantar de vosso gesto a composição alta e milagrosa, aqui falta saber, engenho e arte.
(TORRALVO, Izeti Fragata e MINCHILLO, Carlos Cortez. Sonetos de Camões. Cotia: Ateliê Editorial, 2011. p. 32.)
A leitura atenta do texto permite a rmar que a) se trata de soneto em versos decassílabos, escrito, portanto, em medida nova, mas cuja temática e recursos retóricos opõem-se ao
Classicismo. b) o eu lírico, nos dois quartetos, a rma sua capacidade de composição poética, mas a relativiza nos dois tercetos, diante da beleza da “Senhora”. c) os conceitos de engenho e arte – respectivamente, domínio da técnica e talento pessoal – são típicos da temática classicista. d) a Senhora, idealizada nas cantigas de amor, se vê, no soneto camoniano, de que o texto acima é exemplo cabal, sintetizada a uma imagem desprezível. e) a mitologia clássica – no soneto expressa em Amor, ou Eros, presente nos dois primeiros quartetos – é característica predominante do Classicismo.
08. Assinale a alternativa correta no que se refere às cantigas de amor trovadorescas. a) Nas cantigas de amor, o eu lírico masculino lamenta a ausência da mulher amada, que lhe é indiferente e que, por mais que seja vista por ele como superior, pertence às classes populares. b) Nas cantigas de amor, o eu lírico masculino manifesta insistentemente a coita, isto é, o sofrimento de amor, repleto de impulsos eróticos que lhe laceram o corpo e que conferem aos poemas uma aura sardônica. c) Nas cantigas de amor, o eu lírico feminino manifesta a falta que sente do amigo – isto é, do homem amado – invocando-o por meio de composições de matriz popular que se caracterizam por construções paralelísticas. d) Nas cantigas de amor, o eu lírico masculino confessa a coita, isto é, o sofrimento amoroso por uma dama que lhe é inacessível devido à diferença social que existe entre ele e ela. e) Nas cantigas de amor, a distância social existente entre o eu lírico masculino e a mulher amada a quem ele se dirige permite entrever que já grassava na sociedade portuguesa a ascensão social pelo trabalho.
09. A poesia do Trovadorismo português tem íntima relação com a música, pois era composta para ser entoada ou cantada, sempre acompanhada de instrumental, como o alaúde, a viola, a auta, ou mesmo com a presença do coro. A respeito dessa escola literária, assinale a alternativa correta. a) Os principais trovadores utilizavam a guitarra elétrica para acompanhar a exibição. b) As composições dividem-se em dois grandes grupos: líricas e satíricas. c) Os principais trovadores são: Padre Antônio Viera e Camões. d) O Trovadorismo é uma escola literária contemporânea. e) São exemplos de Cantigas Satíricas as Cantigas de Amor e de Amigo.
10. (UNICAMP 2018)
Transforma-se o amador na coisa amada,
Por virtude do muito imaginar;
Não tenho, logo, mais que desejar,
Pois em mim tenho a parte desejada.
Se nela está minha alma transformada, Que mais deseja o corpo de alcançar? Em si somente pode descansar, Pois com ele tal alma está liada.
Mas esta linda e pura semideia, Que, como o acidente em seu sujeito, Assim como a alma minha se conforma,
Está no pensamento como ideia; E o vivo e puro amor de que sou feito, Como a matéria simples busca a forma.
(Luís de Camões, Lírica: redondilhas e sonetos, Rio de Janeiro: Ediouro / São Paulo: Publifolha, 1997, p. 85.)
Um dos aspectos mais importantes da lírica de Camões é a retomada renascentista de ideias do lósofo grego Platão. Considerando o soneto citado, pode-se dizer que o chamado “neoplatonismo” camoniano a) é a rmado nos dois primeiros quartetos, uma vez que a união entre amador e pessoa amada resulta em uma alma única e perfeita. b) é con rmado nos dois últimos tercetos, uma vez que a beleza e a pureza reúnem-se nalmente na matéria simples que deseja. c) é negado nos dois primeiros quartetos, uma vez que a consequência da união entre amador e coisa amada é a ausência de desejo. d) é contrariado nos dois últimos tercetos, uma vez que a pureza e a beleza mantêm-se em harmonia na sua condição de ideia.
EXERCÍCIOS DE COMBATE
01. Considere o trecho para responder à questão.
No nal do século XV, a Europa passava por grandes mudanças provocadas por invenções como a bússola, pela expansão marítima que incrementou a indústria naval e o desenvolvimento do comércio com a substituição da economia de subsistência, levando a agricultura a se tornar mais intensiva e regular. Deu-se o crescimento urbano, especialmente das cidades portuárias, o orescimento de pequenas indústrias e todas as demais mudanças econômicas do mercantilismo, inclusive o surgimento da burguesia. Tomando-se por base o contexto histórico da época e os conhecimentos a respeito do Humanismo, marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso e assinale a alternativa correta. ( ) O Humanismo é o nome que se dá à produção escrita e literária do nal da Idade Média e início da moderna, ou seja, parte do século XV e início do XVI. ( ) Fernão Lopes é um importante prosador do Humanismo português. Destacam-se entre suas obras: Crônica Del-Rei D.
Pedro I, Crônica Del-Rei Fernando e Crônica de El-Rei D. João. ( ) Gil Vicente é um importante autor do teatro português e suas principais obras são: Auto da Barca do Inferno e Farsa de Inês Pereira. ( ) Gil Vicente é um autor não reconhecido em Portugal, em virtude de sua prosa e documentação histórica não participarem da cultura portuguesa. a) V, V, V, F b) V, F, V, V c) F, V, V, F d) V, V, F, F e) V, F, F, V
02. Considerando o Classicismo em Portugal, assinale a alternativa correta. a) Os Lusíadas é a principal obra lírica de Camões e o tema central é o sofrimento por um amor não correspondido. b) Os Lusíadas tem como temática a descoberta do Brasil e a relação entre o colonizador e o índio. c) Luís Vaz de Camões é o principal autor do Classicismo em Portugal e destacou-se por sua produção épica e lírica. d) Uma característica dos versos de Camões é que eles não apresentam uma métrica, são livres e brancos. e) Uma característica de Camões é que ele desprezava Portugal e o povo português.
03. (...) os mitos e o imaginário fantástico medieval não foram subitamente subtraídos da mentalidade coletiva europeia durante o século XVI. (...) Conforme Laura de Mello e Sousa, “parece lícito considerar que, conhecido o Índico e desmiti cado o seu universo fantástico, o Atlântico passará a ocupar papel análogo no imaginário do europeu quatrocentista”.
(VILARDAGA, José Carlos. Lastros de viagem: expectativas, projeções e descobertas portuguesas no Índico (1498-1554). São Paulo: Annablume, 2010, p. 197)
Se no século XVI a presença de mitos e do imaginário fantástico se fazia notar nas artes e na literatura europeia, como em Os Lusíadas, de Camões, no Brasil isso não ocorria porque a) as tendências literárias mais sistemáticas no país privilegiavam as formas clássicas. b) predominava entre nós a inclinação para as teses do Indianismo. c) nossas manifestações literárias consistiam em descrições informativas e textos religiosos.
d) os jesuítas opunham-se a qualquer divulgação de literatura calcada em mitos pagãos. e) não era do interesse do colonizador permitir a difusão da alta cultura europeia entre nós.
04. Os gêneros literários são empregados com nalidade estética. Leia os textos a seguir.
Busque Amor novas artes, novo engenho,
Para matar-me, e novas esquivanças;
Que não pode tirar-me as esperanças,
Que mal me tirará o que eu não tenho.
(Camões, L. V. de. Sonetos. Lisboa: Livraria Clássica Editora. 1961. Fragmento.)
Porém já cinco sóis eram passados Que dali nos partíramos, cortando Os mares nunca doutrem navegados, Prosperamente os ventos assoprando, Quando uma noite, estando descuidados Na cortadora proa vigiando, Uma nuvem, que os ares escurece, Sobre nossas cabeças aparece.
(Camões, L. V. Os Lusíadas. Abril Cultural, 1979. São Paulo. Fragmento.)
Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a classi cação dos textos. a) Épico e lírico. b) Lírico e épico. c) Lírico e dramático. d) Dramático e épico.
05. Compare o poema de Camões e o poema “Encarnação”, leia as a rmativas que seguem e preencha os parênteses com V para verdadeiro e F para falso.
Poema 1
Transforma-se o amador na cousa amada, por virtude do muito imaginar; não tenho, logo, mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada.
Se nela está minha alma transformada, que mais deseja o corpo de alcançar? Em si somente pode descansar, pois consigo tal alma está liada.
Mas esta linda e pura semideia, que, como o acidente em seu sujeito, assim coa alma minha se conforma,
Está no pensamento como ideia; [e] o vivo e puro amor de que sou feito, como a matéria simples busca a forma.
Poema 2
Carnais, sejam carnais tantos desejos, carnais, sejam carnais tantos anseios, palpitações e frêmitos e enleios, das harpas da emoção tantos arpejos...
Sonhos, que vão, por trêmulos adejos, à noite, ao luar, intumescer os seios láteos, de nos e azulados veios de virgindade, de pudor, de pejos... Sejam carnais todos os sonhos brumos de estranhos, vagos, estrelados rumos onde as Visões do amor dormem geladas...
Sonhos, palpitações, desejos e ânsias formem, com claridades e fragrâncias, a encarnação das lívidas Amadas! ( ) Os dois poemas falam mais sobre o sentimento do amor do que sobre o objeto amado. ( ) No poema de Camões, o amor gura-se no campo das ideias. ( ) Quanto à forma, os dois poemas são sonetos. ( ) O título “Encarnação” contém uma certa ambiguidade, aliando um sentido espiritual a um erótico. A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: a) F – F – V – F. b) V – V – F – V. c) V – F – V – F. d) V – V – V – V. e) F – V – F – F.
06. (UEPA) A literatura do amor cortês, pode-se acrescentar, contribuiu para transformar de algum modo a realidade extraliterária, atua como componente do que Elias (1994)* chamou de processo civilizador. Ao mesmo tempo, a realidade extraliterária penetra processualmente nessa literatura que, em parte, nasceu como forma de sonho e de evasão.
(Revista de Ciências Humanas, Florianópolis, EDUFSC, v. 41, n. 1 e 2, p. 83-110, Abril e Outubro de 2007 pp. 91-92)
(*) Cf. ELIAS, N. O Processo Civilizador. Rio de Janeiro: Zahar, 1994, v.1.
Interprete o comentário acima e, com base nele e em seus conhecimentos acerca do lirismo medieval galego-português, marque a alternativa correta: a) as cantigas de amor recriaram o mesmo ambiente palaciano das cortes galegas. b) “a literatura do amor cortês” re etiu a verdade sobre a vida privada medieval. c) a servidão amorosa e a idealização da mulher foi o grande tema da poesia produzida por vilões. d) o amor cortês foi uma prática literária que aos poucos modelou o per l do homem civilizado. e) nas cantigas medievais mulheres e homens submetem-se às maneiras re nadas da cortesia.
07. Considere o poema.
CANTIGA DE AMOR
Senhora minha, desde que vos vi, lutei para ocultar esta paixão que me tomou inteiro o coração; mas não o posso mais e decidi que saibam todos o meu grande amor, a tristeza que tenho, a imensa dor que sofro desde o dia em que vos vi.
Já que assim é, eu venho-vos rogar que queirais pelo menos consentir que passe a minha vida a vos servir (...)
(Afonso Fernandes. www.caestamosnos.org/efemerides/118. Adaptado)