






Sesc São Paulo
Av. Álvaro Ramos, 991
03331–000 São Paulo – SP
Tel.: +55 11 2607 8000 sescsp.org.br
volume 35 número 89 julho/2025








Sesc São Paulo
Av. Álvaro Ramos, 991
03331–000 São Paulo – SP
Tel.: +55 11 2607 8000 sescsp.org.br
volume 35 número 89 julho/2025
SESC – SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
Administração Regional no Estado de São Paulo
PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL
Abram Szajman
DIRETOR DO DEPARTAMENTO REGIONAL
Luiz Deoclecio Massaro Galina
SUPERINTENDÊNCIAS
TÉCNICO - SOCIAL
Rosana Paulo da Cunha
COMUNICAÇÃO SOCIAL
Ricardo Gentil
ADMINISTRAÇÃO
Jackson Andrade de Matos
ASSESSORIA TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO
Marta Raquel Colabone
ASSESSORIA JURÍDICA
Carla Bertucci Barbieri
GERENTES
ESTUDOS E PROGRAMAS SOCIAIS Flávia Andréa Carvalho ARTES GRÁFICAS Rogério Ianelli
COMISSÃO EDITORIAL
Adriana Reis Paulics, Alan Dias Fernandes, Aline Tafner Moreira, André Dias, Debora Cravo, Dulci Lima, Gustavo Nogueira de Paula, Juliana Fernandes Silveira, Juliana Viana Barbosa, Neide Alessandra Périgo Nascimento, Paula Caroline de Oliveira Souza, Ricardo Tacioli, Rosângela Barbalacco, Suellyn Ortiz Camargo, Teresa Maria da Ponte Gutierrez, Tiago Marchesano, Zulaie L. Breviglieri da Silva
coordenação geral Flávia Andréa Carvalho coordenação executiva André Dias e Rosângela Barbalacco editoração Humberto Mota produção digital Rodrigo Losano fotografias pág. 8: Gabriela Mendes; pág. 11: Adauto Pierin; pág. 18: Ingrid Veloso; pág. 23: Bruna Damasceno; pág. 84, 85, 86, 89 e 92: Lenise Pinheiro; pág. 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 e 103: Emídio Luisi; pág. 104, 107, 108, 110, 111, 113 e 122: Bruna Damasceno; pág. 114: Silvia Machado. revisão Samantha Arana projeto gráfico Cesar Albornoz
Artigos para publicação podem ser enviados para avaliação da comissão editorial no seguinte endereço: revistamais60@sescsp.org.br
Mais 60: estudos sobre envelhecimento / Edição do Serviço Social do Comércio. –São Paulo: Sesc São Paulo, v. 35, n. 89, Julho 2025 –. Quadrimestral.
ISSN 2358-6362
Continuação de A Terceira Idade: Estudos sobre Envelhecimento, ano 1, n. 1, set. 1988-2014. ISSN 1676-0336.
1. Gerontologia. 2. Terceira idade. 3. Idosos. 4. Envelhecimento. 4. Periódico. I. Título. II. Subtítulo. III. Serviço Social do Comércio. CDD 362.604










reportagem
Mestres e Mestras da Cultura Popular Brasileira por Deyvis Drusian e Vanessa Pinheiro
Envelhecimento Artista na Longevidade – Relato de uma Experiência Vivida com o Sr. Manoel por Cinthia Lucia de Oliveira Siqueira
O Tempo na Formação da Subjetividade dos Sujeitos que Estão na Fase da Velhice e que Têm a Arte como Ofício por Rodrigo Geraldo de Oliveira e Débora Wilza de Oliveira Guedes
Narrativas sobre Memória e Envelhecimento: O Trabalho Social com Pessoas Idosas no Projeto Cidadania Ativa no Ceará Por Cristina Maria da Silva, Thaís Andrade Silva, Lucas Pinheiro Tenório Farias, Thaís Castro Monteiro, Claudeiza Coelho Carvalho da Costa, Gabriela Brilhante Rabelo, Poliana Mesquita de Brito e Maria Samira da Silva Monteiro
painel de experiências
Entre Romeus e Julietas: Uma Experiência de Jogos
Teatrais para Pessoas Idosas no Sesc Ipiranga por Olívia Tamie Okasima
entrevista
Othon Bastos
protagonismos
Corpos Velhos – Para que Servem? por Emídio Luisi
envelhecemos
Corpos Velhos que Dançam! por Luis Arrieta
lançamento
No Teatro Oficina, Zé Celso Ampliou Seu Ciclo Criativo na Maturidade por Claudio Leal
resenha
Da Infância à Velhice: O Fenômeno Cultural das Gerações por Lucas Pelegrini Nogueira de Carvalho
O envelhecimento vai muito além dos processos biológicos. Pertencente a uma das etapas da vida, segue permeado por dinâmicas sociais e suas representações. Na contemporaneidade, o termo velhice compreende condicionantes que atendem a necessidades específicas de um grupo, além de carregar consigo normatizações e finitudes que cercam seu comportamento.
As artes, por sua vez, constituem ambientes sensíveis e significativos para a interlocução com a sociedade e para um protagonismo contínuo, superando a ideia que limita os modos de ser e perceber as velhices e as pessoas idosas.
Nas ações do Sesc, as expressões artísticas possibilitam a construção de saberes junto aos púbicos e se configuram como espaço potente para expressão de manifestações culturais e humanas, considerando suas mobilidades e suas transformações. Presentes desde o início do Trabalho Social com Pessoas Idosas (TSPI), em 1963, as expressões artísticas estão inseridas no diálogo da instituição com as questões do envelhecimento, como forma de valorização das vivências e da diversidade de conhecimentos, da ampliação das discussões acerca do envelhecer e da longevidade.
Desta forma, o TSPI, com suas ações permanentes e em rede, contribui com a democratização, a autonomia e o acesso às manifestações artísticas, especialmente das pessoas idosas. Em atenção às questões em torno da arte, cultura e envelhecimento, a revista Mais 60 – Estudos sobre Envelhecimento propõe olhares reflexivos de pesquisadores e artistas dedicados a essa relação.
Os textos desta edição apresentam pessoas idosas como agentes ativos na produção de saberes e conhecimentos, conectando passado, presente e futuro.
A reportagem de abertura
Mestres e Mestras da Cultura
Popular Brasileira evidencia um panorama dos fazeres artísticos e tradicionais preservados e disseminados pelas pessoas mais velhas, que ocupam o papel de guardiães em territórios e comunidades indígenas e quilombolas, entre outros locais que fortalecem a cultura popular.
Em Envelhecimento Artista na Longevidade, defende-se um envelhecer criativo. Destacando a arte como oportunidade para que a pessoa idosa seja protagonista e que reinvente suas condições de vida no envelhecer, sem disfarçar sofrimentos, mas transcendendo estereótipos.
O artigo O Tempo na Formação da Subjetividade dos Sujeitos que Estão na Fase da Velhice e que Têm a Arte como Ofício investiga o desenvolvimento da subjetividade de artistas na velhice e sua relação com o tempo, fundamentado na psicanálise e no pensamento sociocultural.
Othon Bastos é o entrevistado desta edição. O ator, que completou 92 anos em maio, e 72 de carreira, levou a peça baseada em sua trajetória Não me Entrego, Não! ao palco do Sesc 14 Bis em março deste ano.
Na resenha, Claudio Leal, crítico, jornalista e organizador do livro O Devorador: Zé Celso, Vida e Arte (Edições Sesc), apresenta o texto No Teatro Oficina, sobre Zé Celso, artista que ampliou seu ciclo criativo na maturidade, em que analisa a produção do diretor no envelhecimento.
O envelhecimento dos corpos que dançam é o tema do espetáculo Corpos Velhos –Para Que Servem? de Luis Arrieta, bailarino e diretor. Na editoria Envelhecemos, ele reflete sobre sua criação e concepção, e como percebe o envelhecimento dos corpos na dança.
Boa leitura.

Pessoas mais velhas ocupam o espaço de guardiães de saberes tradicionais e artísticos e fortalecem laços comunitários, colaborando com as próximas gerações.
Deyvis Drusian Jornalista e pesquisador musical, especialista em gestão de comunicação, escritor. drugom@hotmail.com
Vanessa Pinheiro Advogada e pedagoga, especialista em direitos humanos, coautora do livro Educação de Alma Brasileira redesvanessap@gmail.com
A Companhia Carroça de Mamulengos é uma trupe formada por uma família de brincantes, atores, músicos, bonequeiros, contadores de histórias e palhaços que há 35 anos viaja pelo Brasil apresentando a sua arte. Formada por três gerações.
De Norte a Sul do Brasil, homens e mulheres dedicam suas vidas a preservar e valorizar tradições e saberes ancestrais em suas comunidades. São, em sua maioria, mestres e mestras com mais de 60 anos, que promovem a transmissão intergeracional de conhecimento, preservam a memória e as manifestações culturais locais, fortalecendo laços sociais.
De acordo com Márcia Rollemberg, secretária de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura (MinC), a estimativa é de que haja cerca
de 25 mil grupos de cultura popular no país, apesar de não haver um censo que dê maior precisão aos números. Muitos desses coletivos têm mestras e mestres como protetores e disseminadores dos saberes tradicionais. São músicos, dançarinos, artesãos, atores, escritores, artistas circenses e tantos outros que fortalecem com a sua arte os territórios da cultura brasileira. Além disso, são guardiães de tradições orais, de práticas religiosas e filosofias populares que contribuem para cuidar, ensinar e mobilizar as novas gerações para saberes e afetos fundamentais para a vida em comunidade.
Estima-se que existam cerca de 25 mil grupos de cultura popular no país. Muitos desses coletivos têm mestras e mestres como protetores e disseminadores dos saberes tradicionais, de acordo com Márcia Rollemberg, secretária de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura (MinC).
Em suas singularidades, tais grupos merecem proteção, valorização e promoção. “São tradições que muitas vezes são transmitidas por oralidade e contação de história. Então, é enorme a importância das pessoas mais velhas nesse processo de transmissão e valorização da nossa memória. Isso tudo traz muito o sentimento de identidade, de várias identidades, mas também da nossa identidade nacional”, avalia Márcia.
Segundo a secretária, o programa Cultura Viva1, que completou 20 anos, é um marco histórico no país em termos de políticas públicas, ampliando direitos culturais ao conjunto da sociedade. Atualmente, mais de 1.200 municípios têm acesso aos cerca de R$ 430 milhões anuais destinados para o fomento à produção cultural no país. Apesar de ser a porta de acesso ao apoio popular, o Cultura Viva1 não é a única forma de incentivo, já que há recursos de outras fontes, como Lei Rouanet, Lei do Audiovisual, além de outras legislações estaduais e municipais.
“Uma política cultural nacional vai além de possibilitar acesso ao fomento, devendo também viabilizar formação, conexão dos seus integrantes em rede, dando visibilidade e reconhecimento às suas práticas culturais. Isso ajuda a reforçar a sua identidade, o seu sentimento de pertencimento, revitalizando a sua memória”, afirma. E alerta: “Se a gente não fortalecer essas culturas tradicionais e populares, justamente protegendo o grupo de pessoas mais idosas, podemos ver a transmissão de saberes ancestrais se perdendo”.
“Dizem que o artista tem que ir aonde o povo está. No meu caso, eu vivo onde o povo está”, afirma o mestre bonequeiro Carlos Gomide, 70 anos. Com essa frase, ele sintetiza a importância de estar conectado à base da população. Mas a vida de artista popular tem suas dificuldades: depois de ter tomado a decisão de viver de arte, aos 21 anos, enfrentou situações desafiadoras, como ter de dormir na rua. “Eu não me importava como eu ia viver, onde ia dormir, o que ia comer”, conta.
1 http://culturaviva. cultura.gov.br
Para Márcia Rollemberg, mais do que incentivos financeiros aos grupos, é fundamental pensar de forma mais ampla e estrutural.
Mas, ao fim, o povo vinha em seu socorro: “Sempre chegava alguém e oferecia a casa para tomarmos um banho.
Ou, quando estávamos doentes, apareciam para fazer um chá. Eu costumava dizer aos meus filhos: abaixo dos poderes celestiais, a maior graça está nos braços do povo”.
Há 48 anos na estrada com a companhia artística itinerante Carroça de Mamulengos, Carlos apresenta espetáculos que mesclam teatro de bonecos, dramaturgia, circo e música. O que começou como um projeto solo em 1977, foi crescendo na medida em que se casou com a atriz Schirley França, 64 anos, e tiveram oito filhos.
Hoje, a companhia é formada por três gerações de artistas: atores, músicos, bonequeiros, brincantes, contadores de história, palhaços e arte-educadores.
Maria Gomide, a filha primogênita do casal, começou a atuar muito cedo. “Saí do berço e já fui para o palco”, conta. Seu primeiro papel foi interpretar a personagem de uma burrinha, quando tinha um ano e poucos meses de idade. Hoje, tem a felicidade de ver a sua filha e sobrinhas interpretando a mesma personagem. “Como mãe, escolhi a pedagogia da Carroça de Mamulengos para criar a minha filha. Porque não é sobre ser artista, subir num palco, aprender a cantar, dançar ou tocar um instrumento.

De acordo com o Censo Demográfico de 2022, o Brasil possui 8.441 localidades quilombolas, com 1,3 milhão de pessoas vivendo nesses territórios.
É sobre fazer da arte um modo de vida, um modo que faz a gente refletir sobre o mundo, fazer escolhas frente a esse mundo consumista”, avalia Maria.
Segundo ela, o tempo consolidou o Carroça de Mamulengos como uma escola de transmissão de saberes. “Se todos os filhos foram formados, se todas as netas foram formadas, é notório que existe um modo de ensinar e de aprender que é completamente diferente das escolas. Talvez, isso remeta às corporações de ofício da Idade Média, onde o mestre ensinava o aprendiz pela prática”.
A vida artística de Carlos Gomide está profundamente ligada à história do Sesc. Quando começou a trabalhar com teatro, estava em Brasília e foi no Sesc 913 Sul onde fez as suas primeiras apresentações. Já no Sesc Tijuca, no Rio de Janeiro, foi onde conheceu o mestre paraibano Antônio do Babau, em 1977 – ele seria a maior referência para a Carroça de Mamulengos, que estava prestes a ser fundada. “A gente pode dizer que a companhia praticamente surgiu no Sesc”, afirma.
Por ter a oportunidade de morar com seu mestre, Carlos pôde se aprofundar no mundo mágico do teatro de bonecos – ou mamulengos. “Antônio do Babau construiu uma grande dramaturgia. Ele representava o povo em forma de boneco. Você tem todas as classes sociais em cena: o fazendeiro, a polícia, o padre, os camponeses, você tem toda essa sociedade e seus conflitos. Ele era um Shakespeare do teatro de boneco brasileiro”, afirma. E hoje, Carlos e sua família seguem levando os ensinamentos de seu mentor para todos os cantos do país, transmitindo a cultura popular às próximas gerações – e “sempre nos braços do povo”.
Cuidar do próprio povo e protegê-lo é uma das funções importantes da cultura popular. E, neste sentido, é inevitável que se olhe para comunidades quilombolas como culturas de autopreservação. Segundo Makota Kidoialê, mestra e professora no Programa de Saberes Tradicionais da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em sua origem, os quilombos não foram apenas um espaço para que seu povo fugisse da escravidão.
“Mas também porque a gente acreditava que existisse um modo de vida diferente, onde
nós pudéssemos contar mais com os outros e compartilhar mais do próprio território, sem pensar como propriedade, mas como pertencimento”, explica.
De acordo com o Censo Demográfico de 2022, o Brasil possui 8.441 localidades quilombolas, com 1,3 milhão de pessoas vivendo nesses territórios. E cada quilombo possui características culturais diversas. “Tem comunidade que está firmada a partir do reinado, outras a partir do samba, algumas não têm tanta referência religiosa, já outras se organizam a partir do terreiro de umbanda, como é o nosso caso”, exemplifica mestra Makota.
Moradora do quilombo Manzo Ngunzo Kaiango, em Belo Horizonte, ela nasceu em 1969, um ano antes de o terreno da comunidade ser adquirido. “É como se eu tivesse aberto os olhos dentro do quilombo”, conta. Depois de ser fundado pela mãe, o território recebeu a avó, as tias e, aos poucos, foi aquilombando outras pessoas. Hoje, conta com 32 famílias consanguíneas e 78 com vínculo ancestral. “São todas famílias que acabam não só acessando o terreiro para o cuidado, mas também para o compromisso de preservar a tradição como um princípio de vida”.
Entre os preceitos fundamentais do quilombo está o cuidado com a terra: nada é plantado ou modificado no ambiente sem que haja uma reflexão sobre o assunto.
Além disso, a preservação cultural é outra das bases que permeia as gerações. E outro princípio é o da divisão de papéis: as mulheres são responsáveis pela vida e pelo cuidado com o povo, enquanto os homens protegem o território e fazem mediações externas. “Então, tudo que está relacionado à vida e à manutenção dela é de domínio das mulheres”, explica.
Mais do que um objeto musical, no quilombo Manzo o tambor é um instrumento pedagógico. É nele que os integrantes da comunidade aprendem a se comunicar para além da boca. “Quando a gente quer fazer um chamado, a gente toca o tambor, quando a gente quer passar uma mensagem, também. O tambor aqui é a nossa voz, é como se fosse o nosso momento de oração quando nós colocamos o tambor na roda”, afirma Makota.
E não apenas os instrumentos tradicionais são usados para comunicar, mas também os mais tecnológicos.
Ela conta que seu neto Luan, com apenas seis anos, produziu um curta-metragem durante a pandemia. Com um celular na mão, ele fez um vídeo de 15 minutos com cenas do terreiro. A criação foi inscrita no edital do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) e foi premiada. “Eu falei com meu neto: a gente precisa dar um nome para o seu filme, porque ele vai ser passado no Festival de Ouro Preto. Aí ele me disse: vai chamar Olhos de Erê, porque é assim que eu olho para o terreiro”.
Makota Kidoialê define a arte como a possibilidade de contar a história de seu povo, permitindo maior protagonismo ao grupo. Para ela, é fundamental por possibilitar a desconstrução de estigmas, do racismo e por colaborar no processo contracolonial. “A arte possibilita abrir o espaço para que a sociedade possa caminhar nessas encruzilhadas. A arte traz uma forma mais compreensiva para as pessoas compreenderem essa história”.
CAPOEIRA: LUGAR DE LUTA E ACOLHIMENTO
Símbolo de cultura de resistência no Brasil, a capoeira enfrentou muitas barreiras ao longo de sua história. Surgida no século XVII no país como forma de combate à violência a qual os escravizados eram submetidos, sua prática foi criminalizada entre 1890 e 1937.
“Ela entrou para o Código Penal Brasileiro como sendo crime, com detenção de seis meses a um ano.
E não só a capoeira, o samba, o candomblé, qualquer prática de matriz africana era proibida. Tivemos de resistir muito e ainda seguimos resistindo até hoje”, afirma Mauro Porto da Rocha, conhecido como mestre Maurão.
Ainda muito jovem, foi no Candomblé da Dona Carmem, na zona leste de São Paulo, que Maurão conheceu o mestre Ananias, pioneiro da capoeira em São Paulo e uma das maiores figuras da cultura popular. “Eu nem sabia quem ele era, mas eu estava ali vendo ele cantar, tocar, estava naquele ambiente. Esse tipo de aprendizado ficou para a vida”, conta. Pouco tempo depois, foi iniciado na capoeira pelo mestre Valdenor, em um projeto social em Santo André, fato que mudaria a sua vida dali para frente.
Outra grande referência foi o mestre Caiçara, figura icônica da capoeira e do candomblé baiano, para quem ele teve a felicidade de levar uma carta quando jovem e com quem pôde conviver por duas semanas em Salvador. Na época, Maurão estava lendo o livro Capitães da Areia, de Jorge Amado. “Aquela história penetrou na minha alma.
Então, quando fui à Bahia e encontrei o mestre Caiçara, eu andava no Pelourinho de chinelo, sem camisa, só de calção. Eu queria ser o personagem do livro, o Gato”.
Jovem, negro e periférico, foi por meio da sabedoria dos mais velhos que Maurão finalmente se sentiu abraçado. “O mestre é um orientador, ele vai te mostrar os caminhos, vai te acolher. Essa é a coisa dos mestres populares, sobretudo das culturas de matriz africana e indígena também. No caso da capoeira, é lugar de roda, de ciclo, de igualdade, de estar todo mundo no mesmo plano. É lugar de acolhimento e o mestre tem esse papel”.
E foi a acolhida que recebeu quando jovem que lhe possibilitou ter uma profissão respeitável, podendo viajar o mundo difundindo a cultura da capoeira nos Estados Unidos, na Ásia e Europa. “A capoeira transformou a minha vida. Sinto que tive sorte, pois de onde vim nem todos tiveram oportunidade, meus três melhores amigos morreram aos 23 anos, foram assassinados”. E agradece: “Devo muito à capoeira por minha saúde mental e física, pela confiança que tenho hoje e pelo esclarecimento sobre a vida, a sociedade brasileira e o mundo. Estou completando 60 anos e amo jogar capoeira, tocar, cantar e praticar”.
Para retribuir o que a vida lhe deu, no começo dos anos 1990 fundou o Grupo Mandinga, uma associação social de capoeira.
“Ali acolhemos, damos um impulso aos jovens, uma direção. Eu falo que nem todos precisam ser capoeiristas, mas precisam ser pessoas com dignidade, com trabalho, e que consigam articular suas vidas, o que seria um direito de todos no Brasil, mas infelizmente não é”.
Manoelzinho Salustiano é um dos grandes das tradições pernambucanas e, desde 2020, é reconhecido como doutor honoris causa e doutor notório saber em cultura popular pela Universidade de Pernambuco (UPE). Filho mais velho do renomado mestre Manoel Salustiano, foi com a mãe, Tereza Maria Soares, que foi inicialmente introduzido na cultura popular. Durante a infância, no município pernambucano de Paulista, Manoelzinho via no bar da mãe uma série de gêneros tradicionais, como ciranda, coco, maracatu e cavalo-marinho.
Quando o pai criou o Maracatu Piaba de Ouro, ainda nos anos 1970, o filho, ainda criança, passou a ter contato com os festejos tanto na bodega da mãe quanto nas ruas.
Em sua origem, os quilombos não foram apenas um espaço para fugir da escravidão. Mas também se acreditava num modo de vida diferente, onde pudéssemos contar mais com os outros e compartilhar mais do próprio território, sem pensar como propriedade, mas como pertencimento", conta Makota Kodaialê.
“Tive o privilégio de nascer em um terreiro de resistência. Meu pai foi o homem mais criativo que eu vi da cultura popular. Ele sonhava de noite e fazia de dia”, conta.
Ainda jovem, aos 18 anos, Manoelzinho Salustiano foi convidado a dar aulas em uma escola de cultura popular da cidade, onde lecionou por seis anos. Foi então que intensificou sua pesquisa junto aos grandes mestres dos saberes tradicionais. “Meu pai me disse: a partir de agora, você vai conversar com os mais velhos."
Aí, eu tinha um gravador e andava com ele gravando as histórias com aquelas fitas-cassete. E meu pai dizia: quanto mais velho, mais uma pessoa tem o que ensinar”, relembra.
Aos 28 anos, já como liderança do Maracatu Piaba de Ouro, foi acolhido pelos mestres que o indicaram para presidir a Associação dos Maracatus de Baque Solto de Pernambuco, onde esteve à frente por oito mandatos alternados. Desde então, Manoelzinho é uma grande referência na cultura popular na região metropolitana de Recife e trabalha para preservar as tradições da Zona da Mata pernambucana.
Em maio, lançou no YouTube a webssérie Que Baque Solto Eu Sou?, que registra conversas preciosas com guardiães da cultura popular. “Todo meu trabalho é nessa luta de dar protagonismo aos mestres mais velhos para que eles não morram levando a nossa cultura. Eles têm que ser estimulados a ensinar, a falar, são os protagonistas dessa história, que resistiram”, afirma.
COMO RITUAL:
O Maracatu Piaba de Ouro, também conhecido como Maracatu de Baque Solto, é uma cultura ancestral indígena que remonta ao século XIX e que, no fim do século XX, passou a ter influências afro-brasileiras.
Dentro da tradição, a arte se mescla com mitos e rituais religiosos, sempre em conexão com a natureza, como legado dos povos indígenas e africanos.
Manoelzinho conta que, para preparar a lança de um dos personagens centrais do maracatu, conhecido como caboclo de lança, há um ritual repleto de simbologias. “O mestre vai por sete semanas seguidas à floresta e, a cada semana, dá uma lapada com um facão na árvore, que só vai cair na sétima noite.
Isso tudo em noite escura e não pode ter lua cheia. É toda uma conexão com a floresta e com os caboclos da mata.”
Outro ritual é o da preparação para o Carnaval. “A primeira regra é não dormir com a esposa por sete dias antes do festejo. E tem mestres que passam 15 dias dormindo na sala. E a sua alimentação é feita por ele próprio, buscando a purificação. Aí, no sábado, prepara o azougue, que é uma bebida usada no ritual, para tomar no domingo de Carnaval, para brincar protegido nos três dias. Isso é religião indígena”, explica.
Além de grande preservador e divulgador da cultura popular, Manoelzinho é respeitado internacionalmente pelo seu trabalho como artesão, construindo lindas golas, que são mantos artísticos e sagrados usados pelos caboclos de lança. Em exposições nos Estados Unidos, na França e em vários estados brasileiros, ele apresenta a arte da Zona da Mata pernambucana. “Eu sempre falo que uma gola de um caboclo de lança é uma obra de arte. Porque aquilo ali não é uma máquina que faz. Aquilo ali é um ser humano que está pegando uma lantejoula, uma miçanga, são muitas noites de sono.”
“O mestre é um orientador, ele vai te mostrar os caminhos, vai te acolher. Essa é a coisa dos mestres populares, sobretudo das culturas de matriz africana e indígena também."
Mauro Porto da Rocha, o Maurão.

OS MESTRES E AS MESTRAS
A admiração pela obra e o afeto pelo mestre Salustiano são citados por Antônio Nóbrega como razões para considerá-lo uma referência de vida. Para ele, outros grandes guias foram: Nascimento do Passo (frevo); Aldenir (reisado); Capitão Pereira (bumba-meuboi) e Zé Alfaiate (caboclinho Sete Flexas). “Mestres são pessoas que deixaram um legado que transcende o ensinamento formal que passaram para mim”, comenta.
Em 1972, o escritor e dramaturgo Ariano Suassuna convidou Antônio Nóbrega para compor um grupo de música instrumental brasileira chamado Quinteto Armorial, com o objetivo de mesclar instrumentos da música popular com elementos eruditos, juntando rabeca, viola caipira, pífano, violão e zabumba com violino, viola e flauta transversal. A partir de então, Nóbrega fortaleceria sua carreira como multiartista, unindo o erudito e o popular, e Suassuna seria visto por ele como uma raiz artística para suas criações.
A dança, o canto, os instrumentos musicais, o teatro e a literatura são ferramentas utilizadas por Antônio Nóbrega para se expressar. Nascido em Recife, em 1952, assimilou manifestações culturais pernambucanas durante a infância e a juventude e, ao se casar com a curitibana Rosane Almeida, ambos passaram a disseminar o conhecimento dos mestres e mestras da cultura popular brasileira em São Paulo, onde criaram o Instituto Brincante, em 1992. “E nós começamos a tentar transpor essa linguagem de uma maneira que ela tanto fosse de utilização para o artista quanto para processos educacionais”, conta.
Para Rosane Almeida, as manifestações populares podem ser vistas como uma prática que remete à infância e que nos humaniza. As brincadeiras convidam o adulto a vivenciar o lúdico, a imaginação, a sensibilidade e a criatividade, que são aspectos humanos que não envelhecem. “Essa afirmação da vida não vem com uma promessa de paraíso, ela vem numa prática de humanização desse dia a dia que a gente tem.” Aprofundando a reflexão, Rosane complementa:
“Entendo que o ser humano é uma espécie que constrói conhecimento. A abelha faz o mel, a formiga faz o formigueiro, a aranha faz a teia. E o ser humano tem ideias. Então, dentro dessas práticas artísticas e culturais, é mais possível você cultivar ideias”.
Tradição centenária na cultura popular brasileira, a Folia de Reis, também conhecida como Reisado, preserva os saberes das pessoas mais velhas. O costume que remonta à devoção católica na Idade Média chegou ao Brasil com os portugueses e se instalou, com o passar do tempo, principalmente em zonas rurais. Ao longo dos últimos séculos, todos os anos, milhares de grupos espalhados pelo país iniciam um festejo que dura de 25 de dezembro a 6 de janeiro.
Durante esses dias, o cortejo sai pelas vias rurais e ruas de cidades em um trajeto que imita o caminho realizado pelos três reis magos, Baltazar, Belchior e Gaspar, em direção a Jesus.
E, para a manutenção desta cultura ao longo das gerações, o mestre de bandeira é fundamental.
Tradição centenária na cultura popular brasileira, a Folia de Reis, também conhecida como Reisado, preserva os saberes das pessoas mais velhas.
O costume que remonta à devoção católica na Idade
Média chegou ao Brasil com os portugueses e se instalou, com o passar do tempo, principalmente em zonas rurais.
Ele é a figura espiritual central do festejo e o responsável por entoar canções e organizar o grupo. “No início, ele faz uma promessa e o grupo depois vai passando pelas casas de devotos e esses devotos também fazem promessas e pagam essas promessas ao grupo através de donativos, seja comida, bebida ou dinheiro. E com isso, no fim, fazem uma grande confraternização”, explica Rafaela Sales Goulart, doutora em história pela Universidade Estadual Paulista (Unesp) e integrante do Observatório do Patrimônio Cultural do Sudeste.
Além do mestre de bandeira, outras figuras são fundamentais na festa, como a mestra de cozinha, que é muito importante para alimentar o grupo em todo o festejo. Já os mestres e contramestres musicais e os palhaços ajudam a conduzir as apresentações artísticas que fortalecem a comunhão do grupo com a sociedade. “E sempre quem tem mais conhecimento da tradição vai passando para os mais novos”, comenta a pesquisadora.
Muitas vezes, um atrativo para as novas gerações é a música, já que muitos jovens desejam aprender a tocar viola caipira ou tambor.
Além disso, uma certa flexibilização da tradição permite uma maior participação do gênero feminino.
“Antigamente, os grupos normalmente eram só de homens, apenas eles podiam circular com a bandeira. Hoje, já há muitas mulheres tocando, cantando e participando.”
No entanto, segundo a especialista, o festejo vem perdendo força entre as novas gerações. Como o apoio da Igreja Católica e de municípios é escasso ou pontual, geralmente os grupos têm dificuldade de se manter. Segundo Rafaela, um sinal positivo é que a Folia de Reis está em processo de patrimonialização pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).
“Depois que a gente tiver a festa registrada como patrimônio imaterial do Brasil, aí talvez alguns municípios comecem a repensar os grupos que estão ali na sua cidade e a valorizar um pouco mais a tradição”, avalia.
Segundo Krenak, os povos indígenas enxergam o fazer artístico como entrelaçado ao próprio cotidiano. “Se tem uma correspondência no sentido universal da arte, é a experiência de estar vivo. Quer dizer, estar vivo é arte”, afirma o filósofo. Para ele, os seres humanos podem potencializar esta que seria a maior beleza estética. “Viver tendo cuidado consigo e com o mundo, talvez esta seja a grande arte.
Mais do que se pintar, mais do que se adornar, mais do que essa transfiguração, a experiência artística é fazer a vida ser arte”.
Imortalizado pela Academia Brasileira de Letras (ABL), ocupando uma cadeira desde 2024 entre os grandes nomes das línguas faladas no Brasil, ele critica a própria ideia de imortalidade. “Nós estamos perdendo a capacidade de experiência radical da vida. Estamos banalizando a experiência de estarmos vivos quando a gente quer esticar a vida indefinidamente”, afirma. Na sua visão, mais importante do que a longevidade excessiva é a forma como vivemos: “A vida deve ser uma dança cósmica. E a poética de existir não pode ser trocada por uma mera duração da vida”.
A cadeira de Ailton Krenak na ABL possui o nome de “Língua-mãe", fato que representa uma inovação. Isso porque, historicamente, a academia era espaço de difusão da lusofonia, e, com a inclusão de idiomas indígenas de povos que habitam o país, torna-se uma sinfonia de línguas plurais. “No caso das sociedades indígenas, são estimados no Brasil 305 povos, com 270 línguas. E todas elas com alguma perda histórica, exatamente porque foram desprezadas, reprimidas duramente pela colonização, mas que agora estão ganhando vigor, estão ganhando expressão”.
“Antigamente, os grupos normalmente eram só de homens, apenas eles podiam circular com a bandeira. Hoje, já há muitas mulheres tocando, cantando e participando”, explica Rafaela Sales Goulart.
Para Olívio Jekupé, do povo guarani, ao utilizar-se da escrita, os povos indígenas não perdem a essência da oralidade, mas a complementam, valendo-se de mais uma forma de preservar sua história e identidade cultural. Assim como Eliane Potiguara, citada anteriormente, Olívio é um dos grandes divulgadores da cultura indígena por meio da literatura: “A intenção nossa é tentar publicar para que os livros cheguem nas escolas, para que as pessoas possam valorizar a gente. O indígena é visto como atrasado e nós não somos atrasados”, enfatiza. Autor de mais de 20 livros, entre romances, poesias e obras de não ficção, tanto em português como em guarani, seu trabalho tem por objetivo amplificar a voz da cultura nativa.
A cadência do surdo, o “telecoteco” do tamborim e o ronco da cuíca são, nas escolas de samba cariocas e paulistas, amparados por uma ampla rede comunitária de trabalho. Ela possibilita o funcionamento da bateria, da comissão de frente, das diversas alas, como das baianas e passistas, além de figuras centrais como mestre-sala e portabandeira. São mulheres e homens que, há cerca de cem anos, cozinham, costuram, lavam, passam, tomam
decisões de gestão, criam carros alegóricos, fantasias, compõem canções e enredos, cuidam uns dos outros e da quadra da escola. E sambam.
Um dos grandes símbolos dessa rede comunitária é Neuma Gonçalves da Silva, conhecida como Dona Neuma. Nascida em 1922, era filha de Saturnino Gonçalves, um dos fundadores da Estação Primeira de Mangueira e seu primeiro presidente. Ela fez de sua casa ponto fundamental de articulação da comunidade do Morro da Mangueira: ali os moradores costuravam fantasias, treinavam passos de dança, faziam festa, davam vida a projetos sociais e acolhiam crianças, oferecendo-lhes educação e oportunidades.
“Ela criou muitas pessoas na casa dela e dava aula para elas. Alfabetizava com palavrão, porque dizia que a criança não podia sair do universo dela", conta Déia Maria Ferreira, 74 anos, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e atual conselheira do Conselho da Mangueira. Além disso, artistas e bambas do samba, como Jamelão, Mussum, Chico Buarque e Tom Jobim também costumavam frequentar a célebre casa de Dona Neuma. Após sua morte, em 2000, o legado e a vocação do espaço passaram a ser mantidos por suas filhas.
Ao lado da casa de Dona Neuma estava a residência de Dona Zica e Cartola. O amor destes dois sambistas, porém, apenas floresceu quando ambos já tinham mais de 40 anos de idade. Antes disso, Dona Zica faria história na comunidade de Mangueira com seu trabalho de costureira de fantasias. “Dona Zica pegou a tesoura, os tecidos e levou para a casa da minha mãe. Lá as duas criaram juntas a ala das baianas como a conhecemos hoje e eu aprendi a costurar”, conta Ceci,
uma das filhas de Dona Neuma, em depoimento para a Memória Oral da Ancestralidade Matriarcal da Mangueira, parte do acervo virtual da escola.
Atuando juntos, Dona Zica e Cartola tornaram-se um dos casais mais conhecidos do mundo do samba. A habilidade culinária dela, conhecida por seus temperos e quitutes, unida ao refinamento musical do poeta, deu origem ao Bar Zicartola, reduto do samba carioca na década de 1960 e que inspirou as novas gerações de sambistas.

Há milênios habitando as Américas, os povos indígenas cultivam a ancestralidade como parte fundamental de sua compreensão sobre o mundo. Eles entendem que o ser humano está integrado a rios, mares, florestas e montanhas e reverenciam os mais velhos como sábios e sábias que preservam a história e a identidade cultural do grupo. “A fortaleza que reside nos idosos é que eles mantêm a nossa ancestralidade viva”, diz Eliane Potiguara, 76 anos, liderança indígena que hoje coordena a Casa de Cultura Tupinambá, em Saquarema (RJ). “As pessoas mais velhas de um povo são a nossa sabedoria, elas são as nossas bibliotecas”, complementa.
Ailton Krenak, 74 anos, líder indígena, filósofo, ambientalista e escritor brasileiro, chama a atenção para o fato de que o futuro comum depende da capacidade humana de “ouvir” a Terra, respeitá-la, preservá-la e agir com base na sabedoria que a natureza oferece. “Essa observação de que somos Terra, que nós não somos um organismo separado da Terra, ela é a percepção mais forte, para mim, de um futuro ancestral. É o nosso vínculo com a origem, com essa origem da vida aqui no planeta”, comenta, em entrevista exclusiva para a revista Mais 60.
Poucas experiências podem estar tão atreladas à imortalidade como a criação artística. E isso é importante para os mais velhos, na medida em que podem fortalecer a relação entre passado, presente e futuro. “É um processo gerativo e que pode permanecer de geração em geração.
A arte é uma forma de a gente se eternizar no mundo a partir das nossas histórias, memórias e sentimentos”, afirma Diego Félix Miguel, especialista em gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG).
Se por um lado os mestres e mestras da cultura popular alimentam a sociedade e o futuro com seus saberes, por outro, eles próprios se beneficiam do fazer artístico. E um dos ganhos dessa prática é o estímulo da capacidade cognitiva.
“Ao passo que a pessoa está estimulando novos caminhos cerebrais, novas oportunidades de raciocínio, de resolução de problemas, ela manterá ativa sua capacidade cognitiva, gerando mais autonomia”, avalia Diego.
Ao mesmo tempo, o fazer artístico trabalha a criatividade e o autoconhecimento. E, de acordo com o especialista em gerontologia, a pessoa que faz arte se permite acessar o desconhecido e, a partir desse desconforto frente ao estranhamento, consegue reestruturar ideias, pensamentos e inspirações. “É um momento em que você se volta, se enxerga, se sente e, a partir disso, vai materializar aquilo que te provocou. Isso favorece o autoconhecimento”, explica.
Para ele, práticas artísticas corporais, como teatro e dança, ajudam no maior domínio da mobilidade. E, quando uma pessoa percebe o que o próprio corpo é capaz ou não de fazer e experimenta novos movimentos, ela pode conquistar maior segurança. “Entendo que esse é um processo que pode contribuir, por exemplo, para prevenir quedas”, avalia Diego. Além disso, práticas corpóreas contribuem para a autoestima e sexualidade – por meio de experiências ricas, como o toque e contato visual, é possível estabelecer novas descobertas. “Isso faz com que as pessoas se percebam vivas e pensem: ‘eu estou aqui, os outros estão me vendo, estão me tocando, estou sentindo o corpo de outra pessoa’. É uma forma de colocar em xeque muitos tabus e ajudar a estimular o desejo.”
Já práticas literárias podem ajudar no processo de revisão de sentimentos. Seja por meio da poesia, prosa ou letra de canções, é possível despertar memórias autobiográficas. “Isso possibilita reflexões sobre vivências e experiências com base nas suas histórias, do seu repertório pessoal, que é um ponto de confiança e identidade, a partir do qual a pessoa possa caminhar”, avalia o especialista.
Outro benefício da prática artística é o fortalecimento de laços sociais. Neste sentido, ela funciona como pretexto para a criação de vínculos positivos e de tolerância. “É um processo de ressignificação, em que as pessoas diferentes, e que às vezes não teriam afinidade, começam a enxergar afinidade até nessa diferença”, pontua Diego. Ao mesmo tempo, proporciona uma rede de suporte social, que é fundamental na velhice. “Numa atividade em grupo, a comunidade se preocupa quando uma pessoa falta num encontro. Quando essa pessoa não te liga, você vai ligar para saber o que está acontecendo. E tudo isso é um suporte social que é proporcionado por espaços de convivência e que a arte favorece.”
“Ao passo que a pessoa está estimulando novos caminhos cerebrais, novas oportunidades de raciocínio, de resolução de problemas, ela manterá ativa sua capacidade cognitiva, gerando mais autonomia”, avalia Diego Miguel.
1 Uma versão deste texto foi publicada na Kairós Gerontologia, 22(3), 153-174, 2019. Para esta edição o texto foi revisto e modificado.
Cinthia Lucia de Oliveira Siqueira Docente na Universidade Estadual do Centro Oeste (Unicentro) e coordenadora da Universidade Aberta à Terceira Idade na mesma instituição. cinthiasiqueira@unicentro.br.
resumo
Na atualidade, fala-se muito em qualidade de vida e bem-estar na velhice. Tais conceitos carregam certa subjetividade sobre o envelhecer que, a nosso ver, precisaria ser reavaliado. Neste sentido, no lugar do afamado envelhecimento ativo, este trabalho defende um envelhecimento artista, que se traduz em uma atitude estética na longevidade. Objetivo: destacar a arte como fomento para o deslocamento humano e para a reinvenção de nossas condições de vida, além de vislumbrar um longeviver que transcenda os estereótipos negativos associados ao corpo envelhecido. Materiais e métodos: relato de experiência com um senhor participante da oficina de teatro realizada em um centro cultural voltado a pessoas idosas. Resultados: o teatro possibilitou ao senhor idoso ultrapassar os limites do óbvio, deslizar sobre sua condição física e saborear uma nova possibilidade de existir. Considerações finais: experimentar o envelhecimento atravessado por uma atitude estética é liberar-se para o infinito da vida – em eterno devir – o que incentiva a inclusão de vivências artísticas em programas voltados a pessoas idosas.
palavras - chave Arte, estética, envelhecimento ativo, teatro, pessoas idosas.
abstract
Nowadays, there is much talk about quality of life and well-being in old age. Such concepts carry a certain subjectivity about aging that, in our view, needs to be reevaluated. In this sense, instead of the famous active aging, this work advocates an artistic aging, which translates into an aesthetic attitude in longevity. Objective: to highlight art as a stimulus for human movement and the reinvention of our living conditions, in addition to envisioning a longevity that transcends the negative stereotypes associated with the aging body. Materials and methods: report of an experience with a gentleman who participated in a theater workshop held at a cultural center aimed at the elderly. Results: theater allowed the elderly gentleman to go beyond the limits of the obvious, to glide over his physical condition and to savor a new possibility of existence. Final considerations: experiencing aging through an aesthetic attitude is to free oneself for the infinity of life – in eternal becoming – which encourages the inclusion of artistic experiences in programs aimed at the elderly.
keywords
Art, aesthetics, active aging, theater, elderly people.
Não é de hoje que o discurso poético sobre a velhice propala experiência e sabedoria, entretanto, no ideário social, o corpo velho ainda remete à decadência e repulsa, como se a pessoa idosa fosse um ser estranho, com o qual não podemos e não desejamos nos identificar e sequer nos reconhecer. As modificações físicas que acompanham o envelhecer são comumente vinculadas à impotência e feiura, levando as pessoas a recusá-la, afastar-se dela ou ensaiar destrui-la – uma espécie de exorcização do futuro (MOTTA, 2002; BEAUVOIR, 1990).
Esforço frustrante diante do andamento natural e inegável que, mais cedo ou mais tarde, atinge a todas/ os – cabelos brancos, pele flácida, dorso curvo, visão e audição diminuídas, passos vagarosos – processo que, para quem muito vive, pode tardar, mas não costuma falhar. Todavia, a maior parte de nós prefere antes nunca do que tarde – não queremos as marcas que o espelho denuncia, nem as limitações físicas que nos assombram e, para trajar o figurino da “nova velhice”, busca-se camuflar os apelos do corpo que não conseguem frear o tempo.
Conforme sublinha Andrews (1999), essa atitude para com a velhice continua florescendo e, enquanto todos os outros estágios da vida são planejados e construídos social e culturalmente, a velhice é colocada à margem, de maneira que não existem conflitos para eliminar a infância, a adolescência e a idade adulta do panorama do desenvolvimento humano, mas da velhice todos tentam escapar – ao mesmo tempo em que as pessoas querem viver muito, não querem ficar (parecer) velhas.
Tal ideia fica clara em enunciados que elogiam a pessoa idosa por características avessas à longevidade como: velha muito conservada ou velho com espírito jovem, o que demonstra uma necessidade social de negar a velhice tal como ela é e de valorizar aquilo que ela disfarça (BARRETO, 1992). A regra é não envelhecer e os traços do envelhecimento tornam-se, cada vez mais, humanidades destituídas de valor (CORREA, 2009).
Acontece que o aumento dos anos de vida revela algo curioso – ao lado da negação da velhice, a sociedade tem se esforçado para alongar a vida; queremos viver o máximo e envelhecer o mínimo – grande contradição, afinal, só não envelhece quem não está vivo (MONTEIRO, 2005).
Todavia, no lugar de experimentar uma velhice que aceita sua condição e faz dela matéria-prima para uma extraordinária escultura existencial, somos induzidas/os a dissimular sinais cronológicos, de modo que as pessoas que não se enquadram no modelo jovial “são responsabilizadas pela má gestão de si mesmas, pelas suas doenças, fracassos, assim como servem de alerta para as demais no controle de suas condutas” (TÓTORA, 2015, p. 84).
Diferentemente deste ideário, nosso texto busca oferecer outra vista sobre o processo de envelhecimento – um esgotar da vida que não se restrinja ao bem-estar, muito menos disfarce os sofrimentos inerentes às pessoas que envelhecem, mas faça deles potências de existir. Em vez de pautar-nos na compensação do que falta e almejar o afamado envelhecimento ativo e saudável, sugerimos a liberação das pessoas idosas para o acontecimento vital em sua plenitude – um envelhecer criativo, ou aRtivo, que assim denominamos para nos referirmos ao envelhecimento protagonizado por idosas/os artistas e vivas/os – entregues à livre invenção de si e do mundo – longe de qualquer modelo pré-existente (TÓTORA, 2017).
Nesta perspectiva, a arte relaciona-se a um modo singular de subjetividade, uma resistência poética aos discursos produzidos na atualidade sobre velhice e envelhecimento.
Assentindo com a autora, enunciamos que uma operação artística de viver refere-se à estética da existência – à possibilidade de tornar nossa vida uma obra de arte – no sentido de nos constituirmos a cada momento, nos transformarmos e fazermos da longevidade uma atividade criativa. Nesta perspectiva, a arte relaciona-se a um modo singular de subjetividade, uma resistência poética aos discursos produzidos na atualidade sobre velhice e envelhecimento. Para Tótora (2015), envelhecer com arte é poder experimentar nuances de vida impulsionadas pela tonalidade dos afetos, os quais escapam a todo e qualquer controle e/ ou previsão e permitem a construção do inédito.
Mais do que entreter, divertir ou tratar, defendemos que a arte precisa provocar uma experiência estética, ou seja, deslocar, estremecer, proporcionar construção e reconstrução do mundo e de si próprio em suas possibilidades e impossibilidades, de modo ímpar e imprevisível (ZANELA et al., 2006)
Assim, ao tomarmos a relação entre arte e envelhecimento, procuramos afastar a idealização de que a arte precisa estar associada à melhora da qualidade de vida e ao bem-estar da pessoa idosa. Não negligenciamos estes benefícios, mas eles não são nosso objetivo primeiro. Isso porque, ao que nos parece, há um sutil desmerecimento do envelhecimento quando se entende que toda a atividade voltada à pessoa idosa precisa salvaguardá-la de suas desventuras – como se a velhice fosse sinônimo de carência de vida e alegria.
Mais do que entreter, divertir ou tratar, defendemos que a arte precisa provocar uma experiência estética, ou seja, deslocar, estremecer, proporcionar construção e reconstrução do mundo e de si próprio em suas possibilidades e impossibilidades, de modo ímpar e imprevisível (ZANELA et al., 2006). É necessário, inclusive, um certo mal-estar e desconforto existencial para que a arte protagonize em nossas vidas e figure como uma possibilidade de movimentar-nos em direção a novos modos de pensar, ser e estar no mundo.
Para Dewey (2010) é por meio da arte que atingimos a forma mais intensa da experiência estética, porque ela organiza e disponibiliza os elementos
do cotidiano de modo sensível e significativo. Para ele, a arte não necessariamente se refere a algo distante ou elevado –mas diz respeito às coisas simples e rotineiras vividas com intensidade. Para o autor, é arte aquilo que possibilita a vivência de forças estéticas, aquilo que amplia a própria vida.
Finalmente, Pereira (2011) sugere que, para que se fomente experiências e atitudes estéticas perante a vida, é necessário um investimento no sujeito fruidor, capaz de explorar e experimentar o existir de diferentes maneiras – “possibilitando uma abertura à diversidade de sentidos do mundo – ou seja, de formas de sentir a realidade” (PEREIRA, 2011, p. 119).
Isto posto, nosso objetivo aqui é destacar a arte como fomento para o deslocamento humano e para a reinvenção de nossas condições de vida, além de vislumbrar e incentivar um longeviver que transcenda os estereótipos negativos associados ao corpo envelhecido. Para tanto, este artigo apresentará a experiência de um idoso participante de uma oficina de teatro, cujas limitações físicas impostas a ele transformaram-se em mola propulsora para experiências criativas e impensáveis, contrariando preceitos do envelhecimento bem-sucedido que se pautam exclusivamente no binômio saúde/doença.
Antes de passarmos ao relato propriamente dito, destacamos que, a nosso ver, a linguagem teatral (ao lado de outras expressões artísticas) se faz privilegiada no sentido de transgredir os códigos existentes na sociedade, porque, como aponta Cordeiro (2015, p. 74), os participantes podem “enxergarem-se como sujeitos, como agentes e produtores de cultura, capazes de atuar num palco, de criarem textos e peças teatrais, de perceberem que a própria forma da sociedade encarar a velhice depende de contextos históricos e é passível de modificação”.
Nosso posicionamento é que se deve buscar a estética do fazer artístico, na dimensão do poético, do simbólico –aspectos capazes de promover o diálogo profícuo entre a atriz/ ator idosa/o e seu público e de contribuir para a desmistificação dos mitos negativos associados ao envelhecimento. Através do teatro, acreditamos que a pessoa idosa pode mergulhar em sua verdade absoluta, “sem racionalizar o certo ou errado, divertindo-se como alguém que experimenta o novo e goza do prazer de sentir-se livre dos pré-conceitos sociais que limitam seu poder criativo”
(MIGUEL, 2012, p. 15).
Se, como aponta Nietzsche (1995), a arte existe para que a verdade não nos destrua, de modo que ela não esconde ou nega o sofrimento, mas o transcende e lhe dá forma e beleza, argumentamos que as pessoas mais velhas se beneficiam de atividades artísticas, porém, não somente elas e, sim, todas/ os nós. No lugar de declarar que o teatro acrescenta qualidade de vida à pessoa idosa, como se fosse uma via de mão única, enfatizamos que, de outro lado, a pessoa idosa acrescenta qualidade estética ao teatro, uma vez que os gestos e a voz do corpo envelhecido inauguram narrativas e signos que outros corpos não conseguiriam fazê-lo. Dessa forma, procuramos cuidar para não vincularmos o fazer artístico à promoção de saúde e/ou à prevenção de doenças; também abdicamos de discursos como resgate da cidadania, da autoestima e reinserção social, pois não significamos a velhice em desvantagem.
Entendemos ser necessário marcar este posicionamento porque, não raro, encontramos trabalhos que insistem nesta ideia de arte como benevolência ou salvação. É o que revela uma revisão de literatura realizada por Bernard e Rickett (2017). Na pesquisa, que compreendeu artigos de língua inglesa (em especial do Reino Unido e dos Estados Unidos), publicados entre os anos de 1979 e 2015, as autoras observaram que, em geral, os trabalhos que contemplam oficinas de artes
cênicas voltadas a pessoas idosas apontam como finalidade principal a promoção de saúde, o bem-estar e a ampliação de relações interpessoais. Uma quantidade menor dos trabalhos destaca o aprendizado e a criatividade como objetivos e um número quase inexpressivo sinaliza a importância do fomento à atitude estética e à formação dramática das pessoas mais velhas.
Para Bernard e Rickett (2017), a falta de atenção ao valor estético do teatro sênior chama a atenção para a necessidade de melhorar a nossa compreensão acerca da doação cultural ofertada por pessoas mais velhas. Acreditamos ser este um aspecto significativo, porque desloca a pessoa idosa da ausência de vitalidade para a abundância de recursos – do lugar de quem necessita de compreensão e auxílio para o lugar de quem contribui com a constituição cultural das gerações vindouras e, ao fazê-lo, promove a mudança de si e de outras pessoas.
O estudo de Silva, Vianna e Bezerra (2013) reforça esta mesma ideia – após análise dos autorretratos de Rembrandt, observaram que as melhores pinturas foram as produzidas no fim de sua vida. Em seus escritos eles também chamam a atenção para outros artistas que expressaram na velhice estilos refinados e sofisticados, e concluem que “a constatação
de um estilo tardio, com todas as suas polêmicas ou incongruências, vem dar força à possibilidade de ser possível começar ou recomeçar na velhice, reforçar ou redirecionar a atividade criativa” (SILVA, VIANNA & BEZERRA, 2013, p. 86).
Ressaltamos também trabalhos como os de Bezerra, Baldin e Justo (2015), que desenvolveram oficinas de fotografia e teatro junto a idosas com o objetivo de colocálas em prospecção – enquanto mulheres desejantes e autoras da própria história – protagonistas de seus desígnios. Relatam os autores que as encenações que as pessoas idosas criaram nas oficinas expressaram “a narrativa de si e do seu devir, interligando presente e futuro, com isso, tornando as limitações impostas por kronos insignificantes, diante da magnitude da existência vivida como kairós” (BEZERRA, BALDIN & JUSTO, 2015, p. 251).
Tais experiências nos remetem à concepção de arte como instrumento de bricolagem (tanto de nosso universo interno quanto externo), exercício que não estagna com o tempo, tampouco perde seu valor, porque há materiais envelhecidos tão raros quanto caros – que enriquecem a multiplicidade do ser e do universo que o circunda.
E foi com a convicção de que a atividade criadora é a essência de nosso processo de transformação
e, portanto, de humanização, que iniciamos uma oficina de teatro com pessoas idosas participantes de um centro cultural localizado em uma cidade do interior de São Paulo, sobre a qual discorreremos a seguir.
A oficina ocorreu ao longo de dois anos e, no mês de dezembro, previa-se uma apresentação voltada ao público externo. Participavam do grupo aproximadamente 32 pessoas (3 homens e 29 mulheres) com idades entre 65 e 89 anos. Os encontros eram semanais, com duração de 1h30m e aconteceram entre maio de 2017 e dezembro de 2018.
Todos os encontros foram registrados em diário de campo pela pesquisadora e também professora de teatro do grupo, a qual, na época, era estudante de um programa de doutorado. Assim, o recorte aqui compartilhado faz parte de uma pesquisa mais extensa e abrangente.
Os registros foram realizados de modo manual e ao final de cada encontro. O diário foi o instrumento eleito para registrar e sistematizar nossas observações e reflexões, especialmente porque ele “tem sido empregado como modo de apresentação, descrição e ordenação das vivências e narrativas dos
sujeitos do estudo e como um esforço para compreendê-las” (ARAÚJO et al., 2013, p. 54).
Entendemos que o diário revelou-se como instrumento privilegiado para apreender o caráter subjetivo da pesquisa, justamente porque impregnado de impressões e sensações, o que lhe conferia caráter intimista. Sobre isso, Macedo (2010) comenta que, além de ser utilizado como instrumento reflexivo para o pesquisador, o gênero diário é, em geral, “utilizado como forma de conhecer o vivido dos atores pesquisados, quando a problemática da pesquisa aponta para a apreensão dos significados que os atores sociais dão à situação vivida” (MACEDO, 2010, p. 134).
Para a análise dos dados registrados no diário, escolhemos separar os registros por unidades de compreensão, ou unidades de sentido (conforme sugere Ardoino, 1995). Assim, dentro do processo vivenciado no centro cultural, pinçamos situações que nos foram significativas e que consideramos relevantes para os objetivos da pesquisa. Para a descrição das vivências, apoiamo-nos na sugestão de descrição densa, referenciada por Geertz (2008), segundo a qual é necessário escolher uma, entre diversas estruturas de significação, para então determinar sua importância.
Não estamos com isso exaltando a doença, que sabemos penosa, mas considerando que enfrentar as adversidades, ao invés de apenas evitálas, é também abrir-se à vida – criar-se, “constituir-se a si mesmo a cada momento, saber se transformar, produzir-se, modificar-se, em suma, fazer da relação consigo mesmo uma relação criativa” (FOUCAULT, 1995, p. 262)
Diferentemente de ser significado de antemão por sua condição de velho, como é de costume acontecer com as pessoas idosas, Sr. Manoel assumiu a posição de um sujeito-artista – singular e único –, escorregou sobre a idade e a doença e se fez belo e robusto.
Neste relato apresentaremos uma situação vivenciada com o Sr. Manoel2 durante as aulas de teatro, pois entendemos que ela bem representa o que desejamos sustentar – a possibilidade de deslocamento e livre invenção da pessoa idosa quando atravessada pela dimensão estética da vida que, neste caso, foi fomentada por meio de uma experiência com as artes cênicas.
Para fins de publicação, vale dizer que o projeto foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) de uma universidade do estado de São Paulo e aprovada sob o número 1.870.288; dessa forma, o estudo se fez com o conhecimento e o consentimento escrito de todos os participantes da oficina.
2 O estudo omitiu por razões éticas o verdadeiro nome do Sr. Manoel, no entanto, com o falecimento do mesmo antes dessa publicação, a família autorizou a publicação do nome verdadeiro, presente na foto que o identifica.
Cientes de que nossas interpretações eram de segunda ou terceira mão porque falamos por alguém (e de alguém) que reside em um tempo e espaço diverso do nosso, construímos uma possibilidade de interpretação em torno das situações vividas, “que não se trata de falácia, mas de uma interpretação possível, por meio de descrições minuciosas que, ao invés de generalizar através dos casos observados, intenta generalizar dentro deles” (GEERTZ, 2008, p. 18).
Na época da pesquisa, o Sr. Manoel tinha 88 anos de idade e realizava um tratamento quimioterápico em virtude de um câncer de pele em estágio avançado, o qual acometeu, dentre outras regiões, todo o seu rosto. Por esse motivo, a expressão facial de Manoel possuía limitadas possibilidades de movimentação.
Ao longo do segundo ano da oficina de teatro escolhemos trabalhar com a pantomima e privilegiamos o exercício do espontâneo e da livre criação – para tanto, foi realizado um
planejamento que contemplou uma variedade de técnicas de mímica. Vale dizer que, a cada início de atividade os participantes eram lembrados sobre a livre escolha das atividades que gostariam participar – cada qual era convidado a respeitar suas bordas corporais/emocionais e arriscar-se nos exercícios até o limite que não lhes causasse desconforto. E assim seguimos, com uma adesão considerável de todos os participantes.
Chegou o dia em que estava previsto no cronograma o exercício com máscaras faciais. Mesmo antecipando-se que, dada uma possível limitação física do Sr. Manoel, talvez ele tivesse resistência e/ou restrição para desenvolver os exercícios, manteve-se o planejamento.
Curioso é que ele não somente aceitou entrar no jogo, como foi um dos primeiros a se lançar à atividade e, no esforço de movimentar a musculatura facial, construiu expressões surpreendentes, porque singulares e destacadas dos colegas.
Enquanto a maioria das/os participantes empenhou-se em produzir caras e bocas cômicas, porém estereotipadas, Manoel despendeu laborioso trabalho de contração muscular, tanto quanto possível. Ao fazê-lo, fugiu da expressão cristalizada e alcançou o inusitado – o artístico, no sentido de novos possíveis, “rompendo as cadeias
de uma dada identidade, hábito ou subjetividade” (TÓTORA, 2015, p. 27). Neste dia, o grupo todo se divertiu um bocado com as caretas de Manoel, o que o impulsionou a repetir diversas vezes sua performance, sempre com a mesma aceitação e apreciação das/os outras/os participantes.
Evidente que o Sr. Manoel não o fez deliberadamente, com a intenção do excepcional – esse foi consequência do esforço físico, da experimentação do corpo transformado pela doença. Quando aceitou brincar com a mímica facial, ele ampliou suas possibilidades criativas, ultrapassou os limites do óbvio – deslizou sobre o problema, o sofrimento, a dor e a doença – e o limite físico revelou uma nova possibilidade de existir – potência de vida.
E nos parece que é justamente esse desinteresse da ação, ou seja, a falta de um propósito externo à própria realização da atividade que a torna uma atitude estética. Afinal, o ato estético não considera o produto ou a conclusão da tarefa, porque “não se trata nem de produção nem de uma tarefa, mas de uma ação que é livremente realizada, ou seja, cuja motivação e realização derivam de seu próprio impulso” (MAILLARD, 1998, p. 92, tradução nossa). Para a autora, a atitude estética se define por sua ludicidade e liberdade, de modo que sua finalidade é a própria atividade em si, dando origem a um intenso prazer.
Não estamos com isso exaltando a doença, que sabemos penosa, mas considerando que enfrentar as adversidades, ao invés de apenas evitá-las, é também abrir-se à vida – criar-se, “constituir-se a si mesmo a cada momento, saber se transformar, produzir-se, modificar-se, em suma, fazer da relação consigo mesmo uma relação criativa” (FOUCAULT, 1995, p. 262).

Vida artista, segundo Foucault (1995), é inventar-se fora de qualquer concepção preexistente. E o que se esperaria de Manoel senão uma dificuldade em realizar a atividade? Ao contrário de frágil, ele deixou-se atravessar por sua força vital – experimentou um envelhecimento aRtivo – como o artista que livremente arquiteta sua casa interna e externa.
De acordo com Pereira (2012), para que se viva uma experiência estética é preciso antes adquirir uma atitude estética, que implica em uma disposição contingente e uma abertura circunstancial ao mundo, não tanto para o acontecimento ou a coisa em si, mas para os efeitos que a experiência provoca em nós, em nossa percepção e em nosso sentimento.
Foi notória a disposição do Sr. Manoel e o quanto essa experiência o deslocou no grupo, a ponto de, no final do ano, quando organizamos a montagem teatral voltada ao público externo, ele escolheu protagonizar a pantomima de mímica facial. A turma toda assentiu em voz alta, uma participante, inclusive, anunciou: “Com certeza Sr. Manoel, esta cena é sua, ninguém a faz melhor do que você, vai fazer a plateia rachar de rir!”. E a cada novo ensaio, seus gestos e movimentos se aprimoraram.
No dia da apresentação, combinamos fazer a maquiagem no centro cultural. Sr. Manoel escolheu pela primeira vez passar batom – queria realçar a expressão de seus lábios; queria potencializar-se, ser artista de sua própria vida –“e ser artista da própria vida é tornar as coisas belas, até mesmo as mais ínfimas banalidades do cotidiano” (NIETZSCHE, 1996, p. 299). Sr. Manoel esgotou as possibilidades de sua expressão facial naquela apresentação e provocou um efeito formidável em todos os que o assistiam – o que só foi possível pela qualidade estética de sua face envelhecida.
Sr. Manoel não foi poupado e/ou subestimado por sua condição física, porque o que se pretendia era que ele se apresentasse em sua totalidade, em sua potência humana, esgotando todos os seus recursos poéticos e estéticos. Assim, o que se viu no palco não foi um senhor debilitado que necessitava de aplauso piedoso ou generoso por uma suposta condição sofrida e decadente – ao contrário, o que se assistiu foi um protagonista com vigor e força artística, capaz de transportar o público para efeitos e afetos diversos. Diferentemente de ser significado de antemão por sua condição de velho, como é de costume acontecer com as pessoas idosas, Sr. Manoel assumiu a posição de um sujeito-artista – singular e único –, escorregou sobre a idade e a doença e se fez belo e robusto.
Na semana seguinte, realizamos um encontro final (pós-apresentação) para partilharmos efeitos e impressões de todo processo. Sr. Manoel revelou que o teatro propiciou que as crianças da família (netas e netos) se aproximassem mais dele – o que não acontecia anteriormente. Disse que, após elas o terem assistido no palco, passaram a pedir que as ensinasse sobre mímica e teatro. Também comentou que na sala de sua casa a esposa pendurou um quadro dele com o figurino do espetáculo e que, agora, ele era conhecido como o ator da família. Finalmente, nos revelou que seu modo de falar e olhar para as pessoas havia se modificado – era “de presença”, ele dizia.
Ao longo de todo o processo, foi notável também o deslocamento, a energia e a entrega do Sr. Manoel nos ensaios –como se ele estivesse aos poucos experimentando e se apropriando dos infindáveis contornos e expressões de seu corpo! Assim, ao que nos parece, o teatro flexibilizou não somente a expressão externa de sua face, mas a expressão interna de sua existência, isso porque a arte lhe permitiu recuperar o instinto criativo e construir um outro mundo ao redor e, ao fazê-lo, refez-se infinitamente – afinal, criar o mundo nada mais é do que criar-nos a nós mesmos (MAILLARD, 1998).
Nas atividades desenvolvidas durante as aulas de teatro aqui descritas, as pessoas idosas muitas vezes foram compelidas a se arriscarem em atividades ainda não experimentadas, a entrarem em contato com o mundo do desconhecido e a se colocarem em devir, porque as novas experiências traziam a necessidade de se criarem outras formas de agir e pensar. Como no caso do Sr, Manoel, que se deslocou e buscou um outro sentido à nova realidade que se apresentava. A partir do momento em que ele toma consciência deste movimento, se recoloca, se transforma – se reinventa.
Sr. Manoel fez da relação consigo mesmo – com seu corpo debilitado e envelhecido, uma atividade criativa – recriou-se como obra de arte, surpreendendo e contrariando qualquer previsão. Ao expressar a verdade de sua máscara facial, experimentou a singularidade que sua condição física lhe oferecia, inaugurou um mundo de possíveis e rompeu o restrito espaço que o cotidiano, muitas vezes, insiste em reservar às pessoas que envelhecem.
Tal indício corrobora a ideia que pretendíamos defender neste relato – a de que a experiência com a arte na velhice pode fomentar uma maneira de estar no mundo que nos esquiva de estereótipos e nos permite a constituição de novos possíveis.
Consideramos então que a existência é sempre obra de arte inacabada e, portanto, a reinvenção de nós mesmos fora de qualquer concepção pré-estabelecida; nesse sentido, experimentar o envelhecimento atravessado por uma atitude estética é liberar-se para o incalculável da vida – em eterno devir.
Para que isso aconteça, reforça Pereira (2011), é fundamental que se invista na ampliação do repertório cultural e das experiências sensíveis em nosso dia a dia, pois isso contribui para a ampliação de nossa percepção e para a compreensão ante as infinitas possibilidades de existência. Ora, diria Tótora (2015, p. 64), “e não seria a velhice o momento privilegiado para simplesmente ‘ser’ livre dos códigos e modelos que aprisionam os viventes na sociedade?”. Pois, então, que se incentive, cada vez mais, a inclusão de vivências artísticas – estéticas e poéticas – em programas voltados a pessoas idosas.
ANDREWS, M. The seductiveness of agelessness. Ageing and Society, v. 19, n. 3, 1999, p. 301-318. Disponível em: https://www.researchgate.net/ publication/231842051_The_seductiveness_ of_agelessness. Acesso em: 29 abr. 2025.
ARAÚJO, L. F. S. et al. Diário de pesquisa e suas potencialidades na pesquisa qualitativa em saúde. Revista Brasileira de Pesquisa em Saúde, Vitória, Espírito Santo, v. 15, n. 3, p. 53-61, jul.-set. 2013. Disponível em: https://periodicos. ufes.br/rbps/article /download/6326/4660 /14272. Acesso em: 29 abr. 2025.
ARDOINO, J. Multiréferentielle (analyse). In: Le directeur et l’intelligence de l’organization: repéres et notes de lectura. Ivry: Andesi, 1995, p. 7-9.
BARRETO, M. L. Admirável mundo velho: velhice, fantasia e realidade social. São Paulo: Ática, 1992.
BEAUVOIR, S. de. A velhice. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990.
BERNARD, M.; RICKETT, M. The cultural value of older people’s experiences of theater-making: a review. The Gerontologist, n. 57, v. 2, p. 1-26, 2017. Disponível em: https://academic. oup.com/gerontologist/article-abstract/57/2/ e1/2631952?redirectedFrom=fulltext. Acesso em: 29 abr. 2025.
BEZERRA, P. V.; BALDIN, T.; JUSTO, J. S. Oficinas de psicologia com idosos e as possibilidades de ressignificações do presente e futuro. Kairós Gerontologia, v. 18, n. 3, p. 433-455, 2015. Disponível em: https:// revistas.pucsp.br/index.php/kairos/article/ view/29333. Acesso em 29 abr. 2025.
CORDEIRO, A. P. Por mares de sonho e criação, de “fragmentos da vida” vamos “tecendo esperanças”: a história das oficinas de teatro da Unati (Universidade Aberta à 3ª idade). Unesp de Marília. In Cordeiro, A. P.; Dátilo, G. M. P. A. Envelhecimento humano: diferentes olhares, p. 69-94, 2015.
CORREA, M. R. (2009). Cartografias do envelhecimento na contemporaneidade: velhice e terceira idade. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2009.
DEWEY, J. Arte como experiência. Tradução: Vera Ribeiro. São Paulo: Martins Fontes, 2010.
FOUCAULT, M. O sujeito e o poder. Apêndice da segunda edição. Michel Foucault entrevistado por Hubert L. Dreyfus e Paul Rabinow. In Dreyfus, H., & Rabinow, P. (org.). Michel Foucault: uma trajetória filosófica , p. 251-278. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1995.
GEERTZ, C. A interpretação das culturas. 1. ed. 13. reimpressão. Rio de Janeiro: LTC, 2008.
MACEDO, R. S. Etnopesquisa crítica: etnopesquisaformação. Brasília: Liber Livro, 2010.
MAILLARD, C. La razón estética Barcelona: ed. Laertes, 1998.
MIGUEL, D.A prática teatral no envelhecimento: um caminho para o autoconhecimento, para a autonomia e para a inclusão social. A terceira idade, v. 55, p. 7-18, 2012. Disponível em: https:// portal.sescsp.org.br/online/artigo/6563_a pratica teatral no envelhecimento um caminho para o autoconhecimento para a autonomia e para a inclusao social. Acesso em: 29 abr. 2025.
MONTEIRO, P. P. Somos velhos porque o tempo não para. In: Arcuri, B.; Côrte, B; Mercadante, E. F. (org.). Velhice e envelhecimento: complex(idade), 2005, p. 57-82. São Paulo: Vetor.
MOTTA, A. B. Visão antropológica do envelhecimento. In: Freitas, E. V.; Py, L. (org.). Tratado de geriatria e gerontologia, 2002, p.7882. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.
NIETZSCHE, F. A gaia ciência. Lisboa: Guimarães, 1996.
PEREIRA, M. V. Contribuições para entender a experiência estética. Revista Lusófona de Educação, v. 18, n. 18, p. 111-123, dez. 2012. Disponível em: https://revistas.ulusofona.pt/index.php/rleducacao/ article/view/2566. Acesso em: 29 abr. 2025
SILVA, L. J.; VIANNA, L. G.; BEZERRA, A. J. C. Reflexões sobre o envelhecimento e sobre processos criativos na maturidade a partir dos autorretratos de Rembrandt. Revista Kairós Gerontologia, n. 16, v. 2, p. 77-91, 2013. Disponível em: https://revistas.pucsp.br/index.php/ kairos/article/view/17633. Acesso em: 29 abr. 2025.
TÓTORA, S. Velhice: uma estética da existência São Paulo: Educ: Fapesp, 2015.
TÓTORA, S. Envelhecimento ativo: proveniências e modulação da subjetividade. Kairós-Gerontologia, v. 20, n. 1, p. 239-258, 2017. Disponível em: https:// revistas.pucsp.br/index.php/kairos/article/view/2176901X.2017v20i1p239-258. Acesso em 29 abr. 2025.
1 Partes deste artigo foram utilizados no 1º Seminário Internacional das Cidades Amigas da Pessoa Idosa, que aconteceu no dia 26 de novembro de 2024 na Univap. Foram publicados no dia 26 de novembro de 2024 nos seguintes endereços eletrônicos: https://www.youtube. com/watch?v=VPk9KGU1s0&t=29168s (8:06) e https://saopaulotimes.com. br/nos-somos-feitos-de-nos.
Rodrigo Geraldo de Oliveira Músico, artista plástico e psicanalista. Pesquisador no Núcleo de Estudo e Pesquisa sobre Envelhecimento, Longevidade e Velhice da Universidade do Vale do Paraíba (Nepe/Univap). Mestrando em planejamento urbano e regional no Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento (IP&D/Univap). Pesquisador no Laboratório de Psicopatologia: Sujeito e Singularidade da Universidade de Campinas (LaPSuS/Unicamp). domrodrigocasagrande@gmail.com
Débora Wilza de Oliveira Guedes Assistente social e gerontóloga. Mestra em gerontologia social e família pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP). Doutora em planejamento urbano e regional (IP&D/Univap). Coordenadora do Nepe/Univap. Coordenadora da Faculdade da Terceira Idade na mesma universidade. debora.guedes@univap.br
resumo
Este artigo investiga a formação da subjetividade de artistas na velhice e sua relação com o tempo, fundamentado na psicanálise e no pensamento sociocultural. Com base em Freud e Lacan, analisa-se como a temporalidade impacta a experiência subjetiva do envelhecimento e como a arte possibilita a permanência ativa desses sujeitos. O tempo, para esses artistas, não é apenas cronológico, mas simbólico e imaginário, permitindo a continuidade da sua produção artística e cultural. A arte funciona como registro e transmissão, evidenciando que o sujeito do inconsciente é atemporal. Também são abordadas questões sociopolíticas, como etarismo e desigualdade no acesso à longevidade, compreendendo a velhice como construção social.
O estudo traz exemplos de artistas que ressignificam o envelhecimento e discute a temporalidade em Lacan, a construção social da velhice em Simone de Beauvoir e a arte como espaço de liberdade segundo Hélio Oiticica e Hans-Georg Gadamer. Por fim, reflete-se sobre o futuro da longevidade e como a relação entre tempo, arte e subjetividade questiona a hegemonia da juventude como padrão de valor na sociedade.
palavras - chave Envelhecimento, subjetividade, tempo, arte, psicanálise.
abstract
This article investigates the formation of subjectivity in aging artists and their relationship with time, based on psychoanalysis and sociocultural thought. Drawing on Freud and Lacan, it examines how temporality impacts the subjective experience of aging and how art enables these individuals to remain active and relevant. For these artists, time is not merely chronological but also symbolic and imaginary, allowing for the continuity of artistic and cultural production. Art functions as a medium of recording and transmission, revealing that the unconscious subject is timeless. The study also addresses sociopolitical issues such as ageism and inequality in access to longevity, understanding aging as a social construct. The research presents examples of artists who redefine aging and explores Lacan’s concept of temporality, Simone de Beauvoir’s perspective on aging as a social construct, and the idea of art as a space of freedom according to Hélio Oiticica and Hans-Georg Gadamer. Finally, the article reflects on the future of longevity and how the relationship between time, art, and subjectivity challenges the hegemony of youth as a societal value. keywords
Eu vi muitos cabelos brancos na fronte do artista O tempo não para e, no entanto, ele nunca envelhece
Aquele que conhece o jogo do fogo das coisas que são É o sol, é o tempo, é a estrada, é o pé e é o chão
Caetano Veloso, Força Estranha
A música Força Estranha foi composta em 1977 por Caetano Veloso a pedido de seu amigo Roberto Carlos. Em 2025, 48 anos após essa criação, Caetano Veloso, hoje com 82 anos, encerrou uma turnê, ao lado de sua irmã, também cantora, Maria Bethânia, com 78 anos. Eles se apresentaram em estádios com lotação máxima, com vendas que se esgotaram em poucas horas e a necessidade de criação de datas extras para atender todo o público que se apressou em vê-los no palco. Roberto Carlos continua sustentando o título de rei da música brasileira e, com 83 anos, segue sua carreira com shows no Brasil e no mundo. Gilberto Gil, também aos 82 anos, estreou em março de 2025 a turnê Tempo, em que reúne quatro gerações de sua família no palco para produzir e apresentar esta que, segundo o artista, é sua última turnê nestes moldes.
Aos 94 anos, Tony Tornado mantém a agenda de shows musicais e participações em novelas e filmes. Milton Nascimento, longe dos palcos, mas perto do público graças a suas interações em redes sociais, aos 82 anos concorreu novamente ao Grammy Awards (2025) por seu último disco de jazz, gravado com a artista Esperanza Spalding, de 40 anos.
No campo das artes cênicas, Fernanda Montenegro, aos 95 anos, entrou para o Guinness Book por ter alcançado o recorde mundial de público com uma leitura filosófica. A atriz leu textos de Simone de Beauvoir no dia 18 de agosto de 2024, no Parque Ibirapuera, em São Paulo. A leitura foi do livro A Cerimônia do Adeus e contou com a participação de 15 mil pessoas. Antes disso, a temporada de apresentação do espetáculo no Sesc, em São Paulo, teve 10 mil ingressos vendidos e esgotados em 30 minutos (UOL, 2024). A atriz ainda esteve com sua filha, Fernanda Torres, que, aos 59 anos, trilha um percurso semelhante ao da mãe e colhe, junto com o diretor de cinema Walter Salles, diversos prêmios pelo filme Ainda Estou Aqui, entre eles um Globo de Ouro (2025), repetindo o êxito da mãe há 25 anos, e o Oscar de Melhor Filme Internacional.
“Dona Fernanda”, como é conhecida no meio artístico, está em cartaz com o filme Vitória, batendo recordes de público e, principalmente, divulgando a produção do cinema nacional de títulos no gênero drama, uma vez que o as comédias são mais populares no cinema brasileiro. Com isso, também, a dupla de Fernandas desenvolve plateia e acesso à estética do cinema nacional e um mergulho em roteiros que se passam por aqui.
Segundo a antropóloga e escritora Mirian Goldenberg, autora do livro A Invenção de uma Bela Velhice (Editora Record), a concentração de tantas estrelas da música com mais de 70 anos, ativas e relevantes, é sem precedentes. “Praticamente pela primeira vez, temos uma geração de velhos que não se comportam como velhos. Não se aposentam da vida. Não se escondem dentro de casa ou em atividades de velhos. Eles continuaram a fazer o que sempre amaram fazer. Assim como esses personagens revolucionaram os comportamentos, valores e discursos nos anos [19]60 e [19]70, eles não se aposentaram de si mesmos. Continuam dançando, cantando, namorando, transando, viajando, se divertindo, realizando seus projetos de vida.”
O que também permaneceu é a capacidade de boa parte desses artistas de chamar a atenção da mídia e exercer influência na opinião pública, o que tem ajudado a dar maior visibilidade ao tema do envelhecimento saudável e a combater a chaga do etarismo que, na definição da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG), “consiste no preconceito, na intolerância, na discriminação contra pessoas com idade avançada”.
Para a psicanalista Ângela
Mucida, o envelhecimento, em termos gerais, é definido como um processo que acompanha o organismo do nascimento à morte. A velhice é um momento específico dentro deste processo. Freud deixa a herança dos conceitos fundamentais que norteiam a psicanálise: só existe um sujeito, o sujeito do inconsciente, e este não envelhece (MUCIDA, 2023). A autora aborda a questão da temporalidade na velhice, argumentando que o tempo não é apenas uma dimensão física, mas também psicológica, e que a relação que cada sujeito estabelece com o tempo é fundamental para compreender sua forma de lidar com o envelhecimento.
Simone de Beauvoir entende a velhice como uma construção social que vai além de uma mera condição biológica.
Em A Velhice (1970), ela afirma que a velhice é marcada por uma exclusão social, em que os idosos são marginalizados e desvalorizados. Segundo Beauvoir, a sociedade capitalista trata os idosos como descartáveis, ignorando suas contribuições e reduzindo-os a uma existência de dependência e inutilidade. Ela também aponta que a velhice é um momento de alienação dupla: a sociedade rejeita os velhos, e eles próprios internalizam essa rejeição, vendo-se como “outros” em relação a sociedade. Para Beauvoir, é necessário transformar as condições sociais e culturais para que a velhice seja vivida de forma digna e plena.
Jacques Lacan, psicanalista francês, apresenta a teoria dos registros relacionados à psique humana: real, simbólico e imaginário, que não se separam, como um nó. Neste aspecto, envelhecer é da ordem do real, simbolizado por um corpo físico que se transforma, e carregado pelo imaginário relacionado aos pais, avós e suas experiências acerca do processo do envelhecimento e os registros em seu inconsciente.
O registro marca o tempo do homem. Os registros servem para que gerações posteriores possam recontar a história de um povo e da humanidade e, a partir daí, seguir com a evolução
humana. Este tem sido o trabalho humano: observar, refletir, criar, sistematizar, melhorar e evoluir.
A arte é um importante dispositivo neste mecanismo de registro, sendo uma manifestação humana marcada pela criatividade de expressão e pela subjetividade.
Para o artista plástico brasileiro Hélio Oiticica, a arte é a construção de um espaço de liberdade, onde o sujeito experimenta a criação como parte da vida (OITICICA, 1986).
Ainda tendo o espaço como o local onde a arte pode acontecer, o filósofo alemão Hans-Georg Gadamer reforça que a obra de arte só se realiza plenamente no encontro com o espectador, em um jogo que transcende o tempo e o espaço (GADAMER, 1997).
Gadamer traz em sua citação a percepção de subjetividade da transcendência, conceito que se refere à experiência interna e pessoal de um indivíduo, envolvendo seus pensamentos, sentimentos, percepções, crenças e desejos. Ela está relacionada à maneira como o sujeito percebe e interpreta o mundo ao seu redor, sendo única e influenciada por sua história, cultura e contexto social. Para Freud, a subjetividade é o resultado das interações entre o consciente e o inconsciente, com as experiências de vida e os conflitos internos moldando a identidade do sujeito (FREUD, 2001).
Entende-se que, quando o sujeito se mantém atemporal, ele se torna contemporâneo, sendo um sujeito do seu tempo. Essa característica é percebida na atividade dos artistas citados no início desta reflexão. Para Freud, envelhecer em um mundo permeado pelo imperativo do novo tornou-se uma nova forma de mal-estar (FREUD, 2023). Eles conseguem, através do ofício da arte, permanecer relevantes nos novos tempos, rompendo o mal-estar e criando um novo registro sobre a percepção subjetiva da velhice. O poeta Mário de Andrade escreveu que a arte é a expressão do espírito de um povo, sendo tanto uma manifestação estética quanto uma força de transformação social (ANDRADE, 1974).
Viver é se articular com o tempo e falar de longevidade é falar sobre o tempo aplicado à vida humana.
A psicanálise se estrutura pela ética do bem-dizer. Sendo então ética um conceito relacionado ao campo social, a psicanálise tem, sim, muito a contribuir com este debate, uma vez que também a arte atua no contexto de um marcador de recortes e representações sociais.
A longevidade humana se impõe na vida de maneira que há um acordo feito e posto: viver é “esticar a corda” o máximo possível. É possível viver mais
para, assim, realizar projetos, experiências, riqueza, uma infinidade de possibilidades. Ou simplesmente pelo fato de que aceitar a emoção de enfrentar a finitude é uma dor psíquica e algo que o ser humano, em tempos modernos e urbanos, não desenvolveu, reflexo do estímulo ao ego, que tem como projeção a jovialidade, a materialidade e a eternidade. Presente da colonização mitológica no inconsciente coletivo, o tempo de vida de uma pessoa deve ser o tempo suficiente, não como meta a ser alcançada, mas como experiências a serem vividas.
Não ser eterno é a dor egoica que motiva o homem na construção da longevidade. A morte é o acerto de contas da natureza com o homem, o colocando em pé de igualdade com tudo o que é vivo. Como ser competitivo e com recursos emocionais limitados para lidar com perdas, enfrentar a finitude pode ser uma das mais complexas ações humanas. E neste ponto a espécie humana é talvez a que mais obteve êxito no projeto de aumento de expectativa de vida. A expressão através da arte é uma forma subjetiva de ser eterno.
A arte é a forma que o sujeito encontrou de driblar a finitude e, por mais que se viva muito, comparado ao tempo do universo, a vida humana sempre
A longevidade humana se impõe na vida de maneira que há um acordo feito e posto: viver é “esticar a corda” o máximo possível. É possível viver mais para, assim, realizar projetos, experiências, riqueza, uma infinidade de possibilidades.
A cultura do individualismo e do ego, a psicologia positiva, destrói a estrutura básica de uma sociedade, a sociabilidade, o senso de comunidade e a coletividade e, com isso, a capacidade de análise crítica, de sensibilidade e de produção artística.
será breve, e, dessa forma, sempre haverá maneiras de se viver mais. A reprodução é um dos mecanismos mais sofisticados para esse propósito, tanto no âmbito da reprodução humana quanto na transmissão do saber. Então, quanto mais o homem vive, mais saber ele transfere, mais arte ele produz. E, neste ponto, o ser humano, em conjunto, vem se perpetuando.
Estamos vivendo mais, todos, independentemente da raça, região, classe social, mas isso não descarta as desigualdades que ainda são impostas pelos marcadores sociais. Há algo que não muda: para que alguém viva mais, alguém vai viver menos. E o que distingue um grupo do outro é o acesso a recursos que podem contribuir para uma vida mais ou menos longa. O paradoxo é que a aposta na ciência e tecnologia para se viver mais recai no esgotamento de recursos da natureza. O homem sempre apostou na ciência para resolver seus problemas, mas quando se trata de recursos naturais, esse conceito fracassou. O desejo de viver mais encontra a escassez de recursos para tal, já que sustentabilidade é apenas uma narrativa adotada para abrandar o impacto do homem no mundo, que é irreversível.
E, para a espécie humana, só há vida e sua manutenção através do outro: a existência do bebê depende de um adulto e, quando adulto, recorre-se ao idoso para a transferência do saber. Nós somos feitos de nós.
A cultura do individualismo e do ego, a psicologia positiva, destrói a estrutura básica de uma sociedade, a sociabilidade, o senso de comunidade e a coletividade e, com isso, a capacidade de análise crítica, de sensibilidade e de produção artística.
O Brasil, em 1985, encerrava um período crítico de sua história, o regime militar. O patriotismo, quando é construído de forma democrática, torna-se uma base narrativa para a construção de uma nova identidade de um país, que se abre ao mundo e à inovação. Pensar esperançosamente no futuro, em seus diversos campos, sem as garras da censura, era possível, necessário e urgente. Uma geração se tornou muito rapidamente “o futuro da nação”. Mensagem presente em músicas, romances, espetáculos de teatro, crônicas, repetida em qualquer lugar onde houvesse um adulto dirigindo-se a crianças e adolescentes.
Em 1985, estima-se que brasileiros com 60 anos ou mais representavam 6,8% da população, algo em torno de 7,5 milhões de pessoas. Atualmente, 40 anos depois, são quase 39 milhões, compondo 18% da população.
Muitos desses que hoje estão com 60+ eram os que desejavam que as crianças de 1985 fossem o futuro. A notícia ou a surpresa é que esses jovens de 85 estão ativos, lutaram e permitiram que pudéssemos ter o livre exercício de atividades. A jovem geração não caminhou como se planejou. E o futuro da nação agora é formado também por aqueles jovens, que em 1985 apostaram em mim. O futuro da nação é também 60+, e muitos deles são os artistas citados no início deste artigo, que se utilizaram da representação artística como forma de combater o estado de exceção imposto, demonstrando a arte em seu papel político.
O homo sapiens é ser tribal, hierárquico e colonizador. Características que permitiram torna-se um animal de relevância no ecossistema do planeta, sendo talvez o único que consegue interferir em alguns aspectos de seu funcionamento, capaz de criar mais tecnologias para destruição do que para reconstrução.
Ao mesmo tempo desenvolveu uma capacidade subjetiva e a representa, também, através de expressões artísticas.
Essas características são exploradas de maneira perversa por algumas instituições de poder, até mesmo por espaços políticos que, por sua vez, por meio de leis, organizam os territórios através do campo da moral e, por último, pelo sistema de capital, um grande beneficiado de todo essa organização social contemporânea.
No campo da política, na Câmara dos Deputados, que conta com 513 membros, aproximadamente 55% têm mais de 50 anos. Já no Senado Federal, estima-se que aproximadamente 70% estejam acima de 50 anos. A ausência de pautas e políticas públicas para idosos não parece ser por falta de representatividade.
Freud desenvolveu o conceito do ego, o EU, instância psíquica na qual o sujeito se localiza descolado da natureza, e, portanto, superior a ela, tornando-se singular. Junto a ele o narcisismo, o ego em sua forma sintomática, dando a este sujeito o desejo da eternidade, ou pela beleza de viver, ou pelo medo de morrer. O poder, o dinheiro, a juventude e a santidade se tornaram bons lugares para se alcançar esse êxito. Para além do fim, agora há o céu, vidas futuras, passadas. O homem é eterno, pelos menos no campo imaginário.
Pensar e criar o futuro sempre foi uma habilidade do ser humano, vivendo em ambientes inóspitos e de escassez, onde a existência se tornava comprometida. Seja nos perigos da savana africana há 300 mil anos, em países em guerra ou no aumento da temperatura do planeta, o desejo de viver, a preservação da vida é imperativa. E isso se tornou uma questão ética.
As questões éticas que vivemos em sociedade são antes questões estéticas. E a estética pode ser experienciada pela relação do sujeito com a natureza e pela arte. Neste lugar é possível apreciar o que é o belo. Belo é tudo aquilo que, de tão atravessador, implica no desejo de ser mostrado para o outro. O conceito de estética migrou para o corpo, sendo ético aquilo que é estético, usando como referência os deuses do Olimpo, belos, jovem, brancos, fortes e eróticos. Uma reprodução da vida instagramável. Esse é padrão do que é ético e bom. Tudo o que for fora disso é ruim e feio e, logo, imoral. A mídia se apropriou dessa semiótica, em anúncios, filmes, desfiles.
Jacques Lacan, psicanalista francês, nos apresenta a teoria dos registros relacionados à psique humana: o real, simbólico e imaginário, que não se separam, como um nó.
Envelhecer é da ordem do real, simbolizado por um corpo físico que se transforma e é carregado pelo imaginário relacionado aos pais, avós, suas experiências acerca do processo do envelhecimento e os registros em seu inconsciente. O registro marca o tempo do homem. Seja por ser encontrado em pinturas rupestres, pelo processo de mumificação, pela arte ou seminários e ensaios como este. Nos eternizamos. Ser apagado da história nunca pareceu ser um bom negócio para um sujeito egoico e narcisista.
O trabalho é o grande mecanismo de evolução humana, que tem relação direta com a expectativa de vida. Escravos viviam 30 anos no máximo, enquanto os donos de fazendas chegavam a 60+.
No Brasil 100 milhões de trabalhadores vendem sua força de trabalho para viver, contribuindo com a previdência para que, na idade de se aposentar, aos 65 anos, possam experienciar o direito de envelhecer bem.
Na prática, muitas vezes são atravessados por doenças, têm recursos financeiros escassos, são privados dos laços afetivos do trabalho e têm inabilidade familiar. Isso faz com que este sujeito se angustie e adoeça mais.
Segundo o Instituto Cidades Sustentáveis, em pesquisa realizada em 2022, no bairro de Cidade Tiradentes, localizado no extremo da zona leste da cidade de São Paulo, um morador vive em média 59,4 anos. A 37 km dali, dentro da mesma cidade, um morador dos Jardins vive em média 80 anos. A aposentadoria aos 65 anos parece uma realidade distante para o morador do bairro Cidade Tiradentes.
O sujeito e o inconsciente não envelhecem e o tempo para psicanálise é o tempo lógico, porém o sujeito adoece, primeiro psiquicamente e posteriormente sintomaticamente. A doença é uma linguagem do inconsciente sobre o corpo. Esse adoecer o leva a perder autonomia e capacidades. Envelhecer não é sinônimo de doença, mas as doenças são também sintomas de um sujeito ao qual não foi permitido ter sua singularidade observada e desenvolvida. A doença é a desarmonia de um corpo que está também em desarmonia com o mundo.
Envelhecer não é sinônimo de doença, mas as doenças são também sintomas de um sujeito ao qual não for permitido ter sua singularidade observada e desenvolvida.
Lacan vai nos dizer que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, e sendo uma linguagem ele é o discurso do outro. Velho é o outro. E discurso aqui não é apenas o que é dito, mas sim o que é visto, escutado, sentido, contado, ou seja, uma narrativa, histórias. O que se diz e se vê sobre a velhice? Isso tem a ver com a experiência e vivência do sujeito com os idosos do seu território.
Mas como a narrativa e a linguagem sobre o tempo nos foi constituída? O que é um tempo bom, um tempo ruim?
A pergunta “Como está o tempo?”, tão comum em nosso dia a dia traz a raiz do pensamento mitológico acerca da compreensão humana em relação ao tempo.
Ela surge na mitologia grega, 11 mil anos antes de Cristo. Essa cultura tem duas palavras para falar sobre o tempo, cronos, o tempo cronológico, absoluto: o tempo dos homens; e kairós, o tempo do sentido, o tempo dos deuses.
Olhamos para o céu e perguntamos, como está o tempo? Foi por meio da observação ao longo de milhares de anos que o homem identificou alguns padrões e repetições: tempo de nascer, crescer e morrer. Ele entendeu que, de tempos em tempos, as mesmas coisas aconteciam. Então criou narrativas, deuses, mitos, ciência, projeções e estatísticas.
Para as pessoas que passaram dos 50 anos os eventos repetidos são mais perceptíveis, pois elas ganham maturidade e nomeiam esse fenômeno de intuição. Ficam ansiosas antes mesmo do evento, porque sabem, por experiência, o que poderá acontecer.
Há uma conexão entre o que é produzido em arte e o momento histórico em que o artista vive. No campo da música, momentos políticos são uma grande inspiração para os compositores. Artistas como Renato Russo, Cazuza e Elis Regina emprestaram suas vozes e talentos em músicas e protestos,
cada qual em sua época, mas que denunciavam que algo não estava indo bem. Se vivos estariam vivenciando na fase da velhice. Seus fãs os mantêm vivos, inspirando novos artistas. O uso de tecnologias permite inclusive que possa haver interações ao vivo em palcos e estúdios. A longevidade é um produto para além da vida.
É importante, também, que o público que consome o produto arte, seja na música ou artes visuais, esteja habituado para tal demanda. O neoliberalismo impera também no campo da arte, definindo o que se ouve em relação a músicas e o que se consome em relação a artes visuais.
O não conhecimento em relação a aspectos culturais e sociais, o distanciamento da realidade dos fatos que acontecem no dia a dia do país podem trazer um não entendimento da produção artística – principalmente para os que passaram dos 60 anos, que têm em seus repertórios canções de décadas passadas o desafio torna-se serem compreendidos e, assim, consumidos.
Grandes festivais de músicas que acontecem no país se esforçam para inserir em seus programas artistas que possam atrair jovens e também pessoas acima dos 50 ou 60 anos,
uma vez que elas, muitas vezes, possuem um poder aquisitivo maior. Colocar no palco artistas nesta faixa etária tendo como convidados novos talentos é uma estratégia dos organizadores numa tentativa de mobilizar o maior número de pessoas possível.
Para além do artistaintérprete, no caso da música, há toda uma estrutura de outros artistas/músicos que participam desta indústria. Produtores, empresários, organizadores, compositores. Há um grande número de pessoas que ficam nos bastidores para que as apresentações aconteçam, e muitos são parceiros há décadas de artistas e músicos.
Permitir, criar condições e oportunidades para que artistas que estão na fase da velhice possam exercer seus ofícios é, acima de tudo, permitir que exista autonomia em suas profissões, liberdade de criação e expressão e, principalmente, que haja a representação física destes artistas no palco, criando registros subjetivos para o público, e que através de suas vozes, possam levar o espectador a revisitar momentos e ao mesmo tempo se contemporaneizar. O tempo passa e arte fica e, assim como o inconsciente, a arte e o artista não envelhecem.
ANDRADE, Mário de. Arte e sociedade no Brasil. s. n.: 1974.
BEAUVOIR, Simone de. A velhice. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1970.
FREUD, Sigmund. Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 2001.
FREUD, Sigmund. O mal-estar na cultura. São Paulo: Companhia das Letras, 2023.
GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método. Petrópolis: Vozes, 1997.
GOLDENBERG, Mirian. A invenção de uma bela velhice. Rio de Janeiro: Record, 2018.
LACAN, Jacques. Escritos. Rio de Janeiro: Zahar, 1998.
MUCIDA, Ângela. Tempo e inconsciente: o processo de envelhecimento na psicanálise. São Paulo: Blucher, 2023.
OITICICA, Hélio. Aspiro ao grande labirinto. São Paulo: Rocco, 1986.
SOCIEDADE Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Definição de etarismo. Disponível em: https://sbgg.org. br. Acesso em: 31 abr. 2025.
UOL. Filas e 10 mil ingressos vendidos: monólogo de Fernanda Montenegro causa alvoroço no Sesc. Disponível em: https:// www.uol.com.br/splash/noticias/ estadao-conteudo/2024/06/12/ filas-e-10-mil-ingressos-vendidosmonologo-de-fernanda-montenegrocausa-alvoroco-no-sesc.htm. Acesso em 31 abr. 2025.
1 Agradecemos às pessoas que, para além das equipes executoras, estiveram implicadas na exposição; os gestores do Sesc Ceará que aprovaram a ideia; toda a equipe de manutenção da unidade Sesc Fortaleza e todas as pessoas do Trabalho Social com Pessoas Idosas; e visitantes que se envolveram com a temática durante todo o ano de 2024 e prestigiaram o espaço durante as atividades e o mês em que a exposição ficou em cartaz na sede, no período de 16 de outubro a 15 de novembro de 2024. Agradecemos aos membros do grupo Rastros Urbanos, orientandos da graduação da Pró-Reitoria de Extensão (Prex) e Procult da UFC e da iniciação científica e do mestrado em literatura comparada. Ao trabalho de Alana Brandão Moura na oficina de Bordado em Fotografia e parceria na curadoria do trabalho expositivo e ao trabalho da arquiteta Tinally Carneiro Batista pela realização da expografia artística.
Equipe Rastros Urbanos (Universidade Federal do Ceará/UFC)
Cristina Maria da Silva Professora no Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará (UFC) e no Programa de Pós-Graduação em Letras. Coordenadora do grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão Rastros Urbanos. cristina.silva@ufc.br
Thaís Andrade Silva
Mestranda em literatura comparada (UFC). Atua como professora na rede pública de ensino do estado. Participa do diretório do grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão Rastros Urbanos. athais233@gmail.com
Lucas Pinheiro Tenório Farias
Graduando em ciências sociais (UFC) e bolsista da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap), vinculada à Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPPG). Participa do diretório do grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão Rastros Urbanos. lucaspinheiroufc@gmail.com
Equipe Sesc Ceará
Thaís Castro Monteiro Supervisora do Trabalho Social com Pessoas Idosas do Sesc Ceará. Especialista em gerontologia pela Universidade de Fortaleza. thaiscastroce@gmail.com
Claudeiza Coelho Carvalho da Costa Trabalho Social com Pessoas Idosas do Sesc Ceará. Especialista em Legislação Social, Políticas Públicas e Trabalho Social pela Faculdade Maciço de Baturité. claudeizacoelho@yahoo.com.br
Gabriela Brilhante Rabelo Assistente social do Trabalho Social com Pessoas Idosas do Sesc Ceará. Especialista em gerontologia pela Universidade de Fortaleza. gabrielabrilhante@yahoo.com.br
Poliana Mesquita de Brito Graduanda em serviço social pela Universidade Estadual do Ceará (Uece). Estagiária de serviço social do Trabalho Social com Pessoas Idosas do Sesc Ceará. polianabrito89@gmail.com
Maria Samira da Silva Monteiro Graduanda em serviço social pela Uece. Bolsista do Programa de Educação Tutorial de Serviço Social (PETSS/MEC). Estagiária de serviço social do Trabalho Social com Pessoas Idosas do Sesc Ceará. smonteirofoto@gmail.com
resumo
O Serviço Social do Comércio no Ceará se destaca, desde 1983, por seu pioneirismo na construção de ações direcionadas ao envelhecimento. Suas atividades se voltam ao Trabalho Social com Pessoas Idosas que se destacam no projeto Cidadania Ativa em Fortaleza (CE). O projeto atende a dois grupos: os moradores das comunidades e os participantes do Trabalho Social com Pessoas Idosas que desejam se voluntariar para trabalhar nas localidades. A realização do projeto pressupõe parceria entre o Sesc e as instituições que tenham sede nas comunidades assistidas. No ano de 2024, o tema geral do projeto foi Memória Social e Envelhecimento e foi feita uma parceria com o Grupo de Estudos, Pesquisas e Extensão Rastros Urbanos, da Universidade Federal do Ceará (UFC) que, com sua equipe, facilitou a formação dos voluntários, preparou as oficinas de bordado em fotografias e realizou a curadoria da exposição com os trabalhos feitos pelas pessoas idosas participantes. O presente trabalho recupera, portanto, as possibilidades narrativas da memória como uma forma de construir uma leitura da cidadania em políticas públicas e sociais no processo de envelhecimento. Incluir a pessoa idosa, seja no voluntariado ou em políticas que agreguem e estimulem um envelhecimento saudável – no que concerne potencializar ações e narrativas geridas e pautadas por esses grupos – evoca novas perspectivas e espaços afetivos que acolham e se abram às singularidades e necessidades dos idosos como sujeitos plenos de direitos.
palavras - chave Memória, envelhecimento, cidadania ativa, cidades, Rastros Urbanos.
abstract
The Social Service of Commerce in Ceará has been highlighting since 1983 for its pioneering in the construction of actions directed to aging. Its activities turn to social work with older people who stand out in the Citizenship Active Project in Fortaleza-CE. The project serves two groups: the residents of the communities and the participants of social work with the elderly who want to volunteer for work in the localities. The realization of the project presupposes partnership between: Sesc and institutions that are headquartered in the assisted communities. In 2024, the general theme of the project was social memory and aging and a partnership was made with the Study, Research and Extension Group Urban Traces of the Federal University of Ceará which, with its team, facilitated the formation of volunteers, prepared the embroidery workshops in photographs and cured the exhibition with the work of the elderly participating. The present work therefore recovers the narrative possibilities of memory as a way of building a reading of citizenship in public and social policies in the aging process. Include the elderly, whether in volunteering or policies that add and stimulate healthy aging - regarding enhancing actions and narratives managed and guided by these groups - evoking new perspectives and affective spaces that welcome and open to their singularities and needs of the elderly as full subjects of rights.
keywords
Memory, aging, active citizenship, cities, Urban Tracks.
Guardadas em gavetas, baús, em caixas ou armários, impressas nas fotografias, no último vestido usado, nos amuletos e nas coisas, elas assobiam no tempo o que nenhuma palavra sabe dizer. As memórias são o território geográfico vivo e imaginado de onde nunca saímos. Entre os dedos tateamos os seus fios invisíveis. No ar, linhas e agulhas desenham em alinhavos e bordados os vestígios e os restos abraçados a coisas, lugares e pessoas aos quais nunca poderemos esquecer.
Cristina Maria da Silva2
O Serviço Social do Comércio (Sesc) desponta pelo seu pioneirismo no desenvolvimento de ações direcionadas ao envelhecimento. No Ceará, desde 1983, o Sesc tem desenvolvido ações com foco na velhice por meio do Trabalho Social com Pessoas Idosas, destacando-se, enquanto uma das atividades executadas, o projeto Cidadania
Ativa: Uma Nova Realidade para a Pessoa Idosa.
Desde 2008, o referido trabalho propõe a sistematização de um projeto cujo foco é o desenvolvimento de ações estratégicas que contribuam para o envelhecimento ativo em territórios periféricos.
Assim, o projeto supracitado surgiu e estruturou-se enquanto uma atividade que visa atuar com pessoas idosas que demonstrem o desejo de participação e construção de conhecimentos junto a grupos de longevos residentes em localidades socialmente vulneráveis de Fortaleza, região metropolitana e do interior do estado, acreditando que ao estimular pessoas idosas a desenvolverem ações com e para outras de igual geração, o sentimento de identificação e pertencimento potencializariam os resultados esperados.
Portanto, o projeto atende a dois grupos: aos moradores das comunidades em que ele atua e aos participantes do Trabalho Social com Pessoas Idosas que desejam se voluntariar para trabalhar nas localidades. A realização do projeto pressupõe uma parceria entre o Sesc e as demais instituições que tenham sede nas comunidades assistidas para facilitar a realização das atividades propostas no espaço físico das instalações dos parceiros.
Assim, as reuniões nas comunidades acontecem quinzenalmente e são facilitadas pelo grupo de voluntários sob a orientação, o acompanhamento e a supervisão da equipe técnica do Sesc, que o instrumentaliza a partir de um tripé formativo, qual seja:
2 Texto de abertura da curadora da exposição
As Linhas (In)ventadas da Memória.
As imagens como arquivos vivos recuperaram a memória: a infância dos filhos, a presença dos avós já falecidos, o sorriso das mães, as roupas do casamento, dentre vários outros sentires que marcaram suas trajetórias.
curso, grupo de estudos e planejamento geral e de comissões (os voluntários são organizados por comissões). Os encontros acontecem, desde sua criação, ao longo dos anos e adotam uma temática central. No ano 2024, por exemplo, ano base para este trabalho, o tema foi Memória Social e Envelhecimento.
As atividades, no que diz respeito às atribuições às pessoas idosas das comunidades, são estimuladoras a fim de propiciar discussões por meio da oralidade, o que contribui com o compartilhamento de suas experiências no decorrer dos encontros. Os encontros, por sua vez, acontecem de forma quinzenal e neles é possível um compartilhamento de perspectivas sob as diferentes velhices que compõem o projeto e suscitam um efeito balizador acerca do entendimento da temática.
Além dos encontros quinzenais, são desenvolvidas também oficinas de trabalhos manuais que tenham correlação com a temática adotada no ano. Em 2024, o Sesc estabeleceu uma parceria com o grupo Rastros Urbanos, da Universidade Federal do Ceará (UFC), coordenado pela professora Cristina Maria. A partir da parceria, foi elaborada uma
formação de sensibilização sobre a temática da memória para os voluntários do projeto nos dias 19 e 20 de fevereiro. A formação foi intitulada Guardar Histórias e Acervar Memórias e teve o objetivo de evocar processos da memória dos participantes e entrelaçar suas vivências com as experiências e narrativas da própria cidade onde vivem.
Com a participação ativa de todos os presentes, a proposta foi elaborar um grupo de estudos durante o corrente ano, a contar do mês de fevereiro ao mês de novembro, com acompanhamento atento da equipe para a coletividade e a individualidade de cada participante. No grupo de estudos, foi feito um trabalho de leitura de textos, apreciação de músicas e escuta ativa das proposições diante das intervenções feitas nas comunidades.
O grupo mantinha um encontro mensal, já que precisava articular as datas a fim de propiciar as demais reuniões quinzenais nas comunidades. Os encontros eram realizados no Sesc Fortaleza e os cursistas tinham suas contribuições: ler previamente os textos selecionados e, se fosse para eles possível, colaborar na confecção de um fichamento, também prévio, para discussão. Os responsáveis por conduzir e mediar o grupo de estudos foram membros ativos do Rastros Urbanos,
bem como a professora Cristina, que auxiliou e acompanhou o desenvolvimento das atividades durante todo o curso.
Também, no decorrer do grupo de estudos, foi realizada uma oficina de bordado em fotografia para pessoas escolhidas das comunidades – tal atividade aconteceu de abril a outubro. O trabalho de fotografia e bordado foi conduzido pela professora Cristina Maria da Silva e pela professora Alana Brandão Moura, autora da marca Enlinhado Bordados.
As oficinas se deram, primeiramente, por meio de um processo de ministrar e conduzir as linhas para o bordado, abordando quais materiais deveriam ser utilizados bem como o conhecimento dos pontos tecidos pela arte de bordar. O pequeno curso teve como objetivo principal propiciar suporte para a culminância: a escolha de fotografias pelos próprios participantes para serem bordadas.
Tais fotografias precisavam ter um elo significativo para que fossem revividas e revisitadas. As imagens como arquivos vivos recuperaram a memória: a infância dos filhos, a presença dos avós já falecidos, o sorriso das mães, as roupas do casamento, dentre vários outros sentires que marcaram suas trajetórias.
Por fim, com a apreciação dos materiais elaborados pelos idosos, foi realizado um trabalho de curadoria e montagem de uma exposição na sede do Sesc Fortaleza, com a expografia e arquitetura artística da professora Tinally Carneiro Batista.
A exposição, intitulada As Linhas (In)ventadas da Memória, convidou os participantes a revisitarem as suas próprias memórias olhando fotografias bordadas e coisas encontradas em muitas de nossas casas como: aparelhos de rádio antigos, lamparinas, xícaras, azulejos, brinquedos, quadros de avós, documentos de nascimento ou casamento, santinhos em homenagem aos nossos mortos, dentre outros objetos. Seguindo os rastros de cada uma dessas coisas (INGOLD, 2012), é possível refletir sobre os processos das experiências e como o encontro com as nossas memórias abraçam o que pulsa em nós e está guardado em nosso olhar.
A retomada da palavra inventada com o uso de parênteses se deve ao fato de se buscar pensar os processos da memória como uma invenção, pois nunca voltamos aos mesmos fatos, lugares e vivências da mesma forma, nem construímos as mesmas narrativas, ou seja, os enredos mudam porque nós também mudamos. Além disso, pensamos que as memórias podem ser ventadas, ou seja, quando evocadas por outros sopros e
3 Saiba mais em https:// rastrosurbanosufc.blogspot. com ou Instagram @rastros.urbanos.
ventos dos acontecimentos, elas podem se reconfigurar e nos levar para outros espaços da recordação pelo efeito das imagens ou da escrita e de como elas afetam os nossos corpos e as nossas leituras dos lugares aos quais pertencemos, como pensa Assmann (2011).
A montagem foi feita com materiais elaborados durante o ano pelo grupo, mas também com a participação ativa dos voluntários, que trouxeram vestidos herdados de uma mãe, bordados ensinados por uma tia durante a adolescência para o enxoval, uma almofada de bilro, um ferro antigo de passar roupa, um moinho e muitas linhas, principalmente, vermelhas – lembrando as linhas de conexão com a vida e a consciência de si.
A equipe do projeto Cidadania
Ativa procurou a coordenação do grupo de estudos Rastros Urbanos pretendendo estabelecer uma parceria de formação voltada para a memória devido aos projetos anteriores ocorridos na cidade, por meio de exposições, aulas públicas e publicações. No planejamento, a equipe decidiu criar, coletivamente, um grupo de estudos para os voluntários. Assim, o Grupo de Estudos foi desenvolvido
em parceria com o Rastros Urbanos – grupo de estudos, pesquisas e extensão, vinculado ao Departamento de Ciências Sociais e ao Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL) da UFC –, e com o Sesc Ceará, a fim de discutir a memória como ferramenta indispensável para a promoção da consciência crítica e do fomento da ação social. O trabalho do grupo Rastros Urbanos, existente desde 2011, trouxe muito de sua prática de formação e trabalho extensionista na cidade de Fortaleza (CE) por meio do trabalho de sua equipe multidisciplinar nas áreas de ciências sociais, história, arquitetura e literatura comparada – todos muito sensíveis ao trabalho com a memória e aos patrimônios visíveis, materiais, bem como aos bens imateriais e invisíveis da cultura.
Como os participantes do grupo, em sua maioria, já eram idosos, as atividades e os textos foram pensados de forma a unir a maleabilidade da literatura com a densidade teórica, permitindo que todos os presentes, inclusive aqueles que possuíam pouco grau de formação acadêmica, também pudessem participar contando as suas histórias.
Dessa maneira, o objetivo da elaboração do Grupo de Estudos era viabilizar a discussão acerca da memória como uma importante ferramenta de crítica social
nos núcleos em que atuavam os voluntários. Os encontros instigaram a participação e o compartilhamento de narrativas (auto)biográficas por meio de materiais arquivados por eles durante todo o percurso de suas vidas. Ou seja, fotografias, cartas, bonecas, quadros, agendas, cédulas, certidões, xícaras, retalhos, lenços e tantos outros objetos se transformaram em coisas, isto é, acontecimentos (INGOLD, 2012), que juntos configuram um parlamento de vozes incessantes do/no passado e do/no presente.
Além do Grupo de Estudos, os parceiros também promoveram uma oficina de manualidades voltada aos cursistas, com foco na prática do bordado. A proposta consistiu na elaboração e experimentação do artesanato como forma de expressão, utilizando o bordado como ferramenta para narrar memórias. Durante os encontros, os participantes foram introduzidos ao uso das linhas, à construção de cenários bordados, bem como ao reconhecimento dos diferentes tipos de pontos, desenhos e agulhas, elementos fundamentais para o desenvolvimento da técnica. O objetivo central da oficina era que cada cursista pudesse bordar suas próprias fotografias, conferindo a elas novas camadas de sentido e afeto, tornando-se mais uma coisa para ser por eles arquivada.
Neste aspecto, pensando em conformidade com os postulados teóricos de Tim Ingold (2012), é importante pontuar que, ao nos referimos aos inumeráveis e diferentes suportes da memória trazidos e (re)elaborados pelos cursistas, utilizamos o termo coisa em conformidade com o conceito antropológico definido pelo referido autor ao nos ensinar que os seres humanos não habitam o mundo sozinhos, mas sobretudo, que as coisas –que também podemos chamar de arquivos – os acompanham, se entrelaçando com as suas existências. Dessa forma, analisando as discussões e as apresentações das histórias que (co)existiam com esses apareceres, observamos que a vida foi (de)enunciando presença e o passado foi ganhando a forma de um corpo, quase único, mas ainda sim cheio de contextos, cores, cheiros, feridas, amores, sintomas e tantas outras emoções que ultrapassam a potência da escrita, vazam como líquido pelos olhos.
Assim, para a concretização desse movimento em torno das discussões da memória e para conhecer os cursistas, criando desde o início um elo de afeto e confiança, selecionamos textos, músicas e atividades que remetessem à memória de cada um. No total, para o grupo de estudos,
Tanto a oficina de artesanato Bordado em Fotografia como o Grupo de Estudos foram pensados com o objetivo de criar um espaço de aprendizado, troca e valorização da história de vida das pessoas idosas participantes do projeto Cidadania Ativa, voltado para o tema geral do projeto do ano de 2024: Memória
Social e Envelhecimento.
realizamos nove encontros, sendo os dois primeiros organizados de forma mais próxima para estabelecer vínculos e apresentar a proposta ao grupo. Os demais ocorreram mensalmente, entretanto, todos os encontros tiveram sua concretude nas dependências do Sesc Fortaleza.
As oficinas de manualidades também ocorreram no Sesc Fortaleza e foram desenvolvidas paralelamente ao Grupo de Estudos. No entanto, diferenciaram-se em relação ao início das atividades, já que o primeiro encontro específico da oficina foi realizado apenas no mês de abril.
Ainda assim, a simultaneidade entre ambas as ações viabilizou a criação de um espaço contínuo de troca e construção coletiva, fortalecendo os vínculos entre os participantes e valorizando as lembranças e narrativas compartilhadas ao longo do processo.
Tanto a oficina de artesanato Bordado em Fotografia como o Grupo de Estudos foram pensados com o objetivo de criar um espaço de aprendizado, troca e valorização da história de vida das pessoas idosas participantes do projeto Cidadania Ativa, voltado para o tema geral do projeto do ano de 2024: Memória Social e
Envelhecimento. Para garantir a participação das pessoas de todos os territórios atendidos pelo projeto, o Sesc disponibilizou transporte, permitindo que os participantes fossem levados e trazidos de suas comunidades com conforto e segurança.
Para iniciar os encontros, nas reuniões quinzenais do território, foram disponibilizadas pelo Sesc listas de inscrição com até seis vagas para cada comunidade, a fim de que os interessados se manifestassem para irem às dependências do Sesc Fortaleza para participarem dos momentos propostos. Ao todo, 45 pessoas, provenientes das 8 localidades atendidas pelo projeto, mantiveram-se assíduas, não havendo a possibilidade de rotatividade, uma vez que a metodologia das oficinas demandou aprendizados de longo prazo que foram ensinados por partes em cada um dos encontros com o grupo. Assim, os voluntários que fizeram e fazem parte da comissão de trabalhos manuais também estiveram no apoio e na execução do Grupo de Estudos, bem como na participação das oficinas.
Durante os encontros, os 45 participantes se reuniram no Sesc Fortaleza para desenvolver suas peças, utilizando fotografias de registros pessoais ou outros objetos que lhes trouxessem algum significado afetivo.
A prática do bordado na foto, por exemplo, permitiu não apenas o aprendizado de uma técnica artesanal, mas, também, a valorização das histórias de vida dos participantes, gerando um ambiente de troca de saberes e valorização de suas memórias – individuais e coletivas.
Para a montagem da exposição e construção das oficinas, foi pedido pelos mediadores fotografias, para que os cursistas praticassem as técnicas iniciais do bordado. Esse primeiro contato permitiu que cada participante explorasse os pontos e desenvolvesse sua criatividade antes de iniciar o trabalho na foto que seria a oficial. Após algumas aulas de prática, cada um dos participantes recebeu a fotografia escolhida, impressa em papel fotográfico, para ser bordada ao longo das demais oficinas.
A iniciativa contou com grande adesão do público e, a partir das experiências vivenciadas, foi possível criar um espaço fértil para a troca de saberes, favorecendo a difusão do conhecimento tanto entre os voluntários quanto entre os membros da comunidade do entorno do Sesc Fortaleza. Além disso, ao promover ações dessa natureza, fomentou-se a valorização do conhecimento empírico, com destaque para

as especificidades regionais e culturais que marcaram a vivência dos participantes.
Assim, como culminância, a referida exposição tomou corpo e forma e, para além das fotografias de família que foram apresentadas, as relíquias, os tesouros e os objetos que valorizavam a cultura cearense pediram licença e invadiram o ambiente.
Dessa forma, pilões, almofadas de bilro, potes de barro para armazenamento de água e lamparinas foram objetos que fizeram parte do corpo das linhas (in)ventadas.
No primeiro encontro, apresentamos a trajetória do Rastros Urbanos na cidade de Fortaleza, mais precisamente na comunidade do Poço da Draga –uma comunidade originalmente pertencente à Praia de Iracema, mas simbolicamente remontada para o centro da cidade – que mantém forte ligação com o projeto. Mostramos fotografias do Poço e de seus moradores; apresentamos as “guardiãs da memória”, antigas moradoras do Poço que têm guardado em seus arquivos uma outra narrativa urbana que nos permite ler de forma diferente a Fortaleza oficializada.
Por meio de imagens, levamos também artefatos que foram exibidos em uma exposição organizada pelo Rastros no Museu de Arte da UFC (Mauc), chamada de Guardiãs da Memória; como o livro Territórios da Memória, escrito por Maria Ivoneide Góis, uma das guardiãs do Poço (2019). Além disso, as fotografias das antigas piscinas naturais, as “piscininhas”; as almofadas coloridas de retalhos; os bordados e tantas outras coisas fizeram parte desse primeiro momento com os cursistas, de forma a demonstrar como o arquivo constitui o antetexto das nossas existências (ARTIÉRES, 1998).

Passado este primeiro momento e para um bom aproveitamento do encontro sob o objetivo principal do grupo, pedimos aos presentes que, no dia seguinte, levassem coisas que particularizaram suas memórias, como uma fotografia ou um álbum fotográfico, um lenço bordado ou uma caixa com linhas, uma xícara de café ou o próprio bule – alguma lâmina do tempo. Assim, ao terminarmos o primeiro dia, já em clima de despedida, a música Tocando em Frente, na voz de Almir Sater, ecoou no ambiente, já que pensamos a memória não como o passado, mas sim como instrumento de extravio (ASSMANN, 2011) do/no presente.
No dia seguinte, conversamos sobre o dia anterior e conduzimos para o momento que os participantes estavam ansiosos: a apresentação de seus itens pessoais, bem como as histórias que estavam ligadas a eles. Observamos como a alegria tomou conta daquelas pessoas, visto os sorrisos e os cochichos que tomaram todo o ambiente: as conversas evocaram o que todos estavam sentindo. Na ansiedade de dizer e de ser ouvido, as memórias saltaram dos pertences que estavam ali e caminharam entre os presentes, fazendo-se viva aos sentidos de cada um.


As palavras explodiram e as emoções, mais que belas, dançaram. Das coisas, os registros. Das histórias, os sentires.
Inúmeros foram os registros e as narrativas produzidos, porém selecionamos apenas três relatos, acompanhados de suas respectivas coisas, para apresentar neste ensaio. O primeiro é uma xícara de café, trazida por Valeska, que compartilhou a importância do item em sua memória afetiva.
Desde a infância, ela presenciava a avó preparar café todas as tardes e bebê-lo em sua xícara preferida. Com o tempo, a repetição desse gesto marcou a coisa de forma indelével: a pigmentação escura do líquido se imprimiu na porcelana, formando uma mancha do contorno do lábio inferior. Para Valeska, embora sua avó não estivesse mais fisicamente presente, sua presença permanecia viva na xícara, que carregava consigo o traço permanente desse vínculo.
A segunda coisa que destacamos é um lenço costurado e bordado por Fátima, também cursista. Sua história é permeada por saudade e profundo amor. Em um pano rosa com detalhes brancos,
Fátima bordou flores acompanhadas de colibris, cujos bicos tocavam delicadamente as pétalas.
Além disso, retratou a imagem de um trem chamado por ela de “trem da felicidade”, representando não apenas a antiga estação de trem de Camocim, mas também o regresso do pai que trabalhava longe. Para ela, o trem não era apenas um meio de transporte, mas um símbolo do retorno de sua pessoa favorita no mundo. Esse sentimento também foi manifestado na fumaça bordada, moldada em formato de coração. No entanto, mais do que o próprio acontecimento grafado em linhas, o que nos chamou atenção foi sua resistência ao tempo: apesar do desgaste natural e das marcas deixadas pelas traças, o lenço permaneceu surpreendentemente conservado, como se, entre suas linhas bordadas, o tempo houvesse pausado. É interessante mencionar também que, quando Fátima estava (con)fabulando sobre as nuances do seu “trem da felicidade”, as estações do passado manifestaram a pungência da sua vida quando uma traça resolveu sair por entre os trilhos do bordado, enunciando ainda com mais força que quando nos referimos ao passado
lidamos com uma conjunção de acontecimentos vivos, lembrando o que nos diz Simmel (2011, p. 59): “[...] só espírito vivo tem história”.
A terceira coisa foi apresentada por seu Freitas. Com orgulho, antes mesmo de revelar o que trazia em mãos, ele se definiu como um guardador de coisas. Sabia de cor várias datas importantes, mas também as registrava em uma agenda, onde anotava acontecimentos marcantes, como acidentes que chocaram o mundo, a visita do papa ao Brasil e o casamento de seus pais, ocorrido antes de seu nascimento. Além das anotações, nos mostrou uma coleção de cartões telefônicos, antigos vales de transporte público e cédulas de Cruzeiro e Cruzado, que mesmo fora de circulação oficial, não deixam de circular na memória da cidade. No entanto, dentre todos os itens, o mais valioso para ele era sua certidão de nascimento. Exibindo o documento com orgulho, ressaltou sua importância não apenas por ser a original, já bastante antiga, mas principalmente pelo fato de ter sido seu falecido pai quem realizou seu registro em cartório, o que tornava a certidão um símbolo ainda mais forte do vínculo entre os dois.
Ao término das apresentações do segundo dia, buscando contemplar o sucesso do dia anterior, pensamos em uma nova música que evocasse memórias resgatadas. Assim, o ambiente ressoou Naquela Mesa, na interpretação do grupo Demônios da Garoa, pois todos os acontecimentos trazidos pelos cursistas foram dispostos sobre a mesa, como um enorme e infinito jogo de quebracabeças. É importante destacar nesse sentido o que nos ensina DidiHuberman (2012): é nas (des)montagens que a história se (des)revela.
Após os dois encontros iniciais, elaboramos um cronograma de estudo com os textos e as músicas que seriam apresentados ao longo das reuniões.
As atividades passaram a ocorrer mensalmente, com exceção do mês de julho, em que não houve reunião do grupo. Cada um desses textos foi escolhido com base em camadas de sentido, isto é, cada material corresponde a um processo necessário e possível no trabalho da/com a memória. Dessa forma, a organização detalhada pode ser verificada na tabela a seguir.
Encontros Textos selecionados
22/02 As Gavetas da Avó de Clara, de Angela Chaves.
21/03
25/04
23/05
25/06
Memórias Inventadas, de Manoel de Barros. Textos: Escovas e Achadouros
Composição de um Álbum Fotográfico: Os Rastros de uma Avó Materna, de Cristina Maria da Silva.
Sobre Nossas Avós. Texto: Varais ou Contos de Preta Velha, com org. de Maria Aparecida Silva Ribeiro.
Narrativas na Cidade em Álbuns Fotográficos: a Fortaleza que se Encontra em Acervos Fotográficos, de Cristina Maria da Silva e Felipe Pinto Braga.
22/08 Olhos d´Água, de Conceição Evaristo.
19/09
Uma Furtiva Lágrima, de Nélida Piñon. Textos: A Cozinha É o Lar e A Cerimônia da Língua, a Moral da Arte
Músicas apresentadas
Hino ao Amor, com Altemar Dutra. Disponível em: https://youtu.be/RXEiLi0zuh8
Tempos Modernos, de Lulu Santos. Disponível em: https:// youtu.be/MVYZayhlLJ8
Cais, com Milton Nascimento. Disponível em: https://youtu. be/dtZVQGa9eDw
Lavadeiras, em Memórias de Carvalho Disponível em: https://youtu.be/97BKJNZXkoM
Cidadão, de Zé Ramalho. Disponível em: https://youtu.be/s1q9vTXYUUY
Olhos Coloridos, com Sandra de Sá. Disponível em: https://youtu.be/dP-0KMjd-dg
Caçador de Mim, de Milton Nascimento. Disponível em: https:// youtu.be/Se9XYKHQi3Y
O primeiro texto escolhido no grupo de estudos foi o livro As Gavetas da Avó de Clara (2018), escrito por Angela Chaves. A narrativa apresentada pela autora conta a história de Clara, uma menina esperta e curiosa que resolve investigar o passado da avó disposto nas gavetas de um móvel, cujo cada compartimento tinha um significado diferente. “Na azul, guardam-se as fitas. Na amarela as pinturas e as tintas. E na rendada… segredos” (CHAVES, 2018, p. 7). Foi pela rendada que Clara se interessou. Tanto era a sua ânsia de descobrir o que nela havia de tão especial e secreto que o móvel quase desabou sobre ela, chamando a atenção da avó. Nesse sentido, o texto nos oferece muitas questões para pensar sobre como a nossa memória também é possível de ser representada por um móvel lotado de gavetas coloridas, dentro das quais guardamos os acontecimentos da nossa existência.
Com essa leitura procuramos instigar os cursistas a identificarem as gavetas, principalmente as rendadas, das suas memórias: o que nelas adormece, o que nelas se escreve e se inscreve. Foi a partir desse movimento que os participantes começaram a vasculhar na memória os conteúdos dos seus “arquivos rendados”, desvelando na superfície os acontecimentos
(bio)gráficos de si e também das cidades onde fincaram as suas raízes. A música que embalou esse movimento foi Hino ao Amor, escolhemo-la pelo fato de que um dos sentidos da sua composição é a existência de um amor, uma ardência (DIDIHUBERMAN, 2012) que queima mesmo diante da partida. Lembremos que a palavra ausência deriva também de absens, palavra latina que quer dizer “aquilo que está em outro lugar”, ou seja, não estamos lidando com algo morto, mas sim vivo em outras instâncias.
No encontro seguinte, tendo os cursistas dilatado as suas gavetas, os textos de Manoel de Barros Escova e Achadouros, presentes na obra Memórias Inventadas (2018), vieram para aprofundar as discussões anteriores, oferecendo-nos formas de olhar a pepita do passado em nossas mãos. Em Escova, a beleza da poesia escrita por Manoel dialoga intimamente com o delicado processo mnemônico, onde a atividade de “escovar ossos”, adquire semelhante sentido ao de “escovar palavras”, isto é, exige do profissional arqueólogo ou literário a necessidade de sempre ir mais fundo nessa terra sombreada das memórias (BENJAMIN, 2009) pois uma palavra também é um osso do corpo das civilizações, do mesmo modo que um osso é palavra,
um pedaço da grafia que se metamorfoseou com a terra úmida das nossas experiências.
Em Achadouros, Manoel nos mostra como tudo que está envolto em nossas intimidades adquire uma camada mais sublime. “Acho que o quintal onde a gente brincou é maior do que a cidade. A gente descobre que o tamanho das coisas há que ser medido pela intimidade que temos com as coisas” (BARROS, 2018, p. 31). Portanto, uma xícara marcada, um lenço bordado ou um documento amarelecido são um parlamento de acontecimentos, nós, isto é, lugares (INGOLD, 2015) por onde os atamentos vitais se atravessam. Assim, cada coisa representa um mundo possível de ser experienciado e partilhado, de forma que todos estão interligados pelo fio da história.
Depois desse segundo movimento, sugerimos uma atividade que consistia em escrever em um verso de um cartão o nome da coisa que eles encontraram dentro das gavetas da memória e, no avesso, uma palavra que poderia ser associada com o registro partilhado, de forma a mostrar como ao “escovar”, “garimpar”, “(re)virar” o escrito, outras imagens apareceriam, fazendo um movimento semelhante ao de uma dobragem que são elucidadas
Foi a partir desse movimento que os participantes começaram a vasculhar na memória os conteúdos dos seus “arquivos rendados”, desvelando na superfície os acontecimentos (bio)gráficos de si e também das cidades onde fincaram as suas raízes.
“Acho que o quintal onde a gente brincou é maior do que a cidade. A gente descobre que o tamanho das coisas há que ser medido pela intimidade que temos com as coisas”
(BARROS, 2018, p. 31)
pela atividade da memória e que tornam possíveis que as histórias subvertam a estética das histórias oficializadas, fazendo com que o oculto e o desconhecido possam encontrar um lugar dentro da superfície, tornarem-se visíveis, legíveis e inflamadas. Como bem lembra-nos Ranciére:
Passar dos grandes acontecimentos e personagens à vida dos anônimos, identificar sintomas de uma época, sociedade ou civilização nos detalhes ínfimos da vida ordinária, explicar a superfície pelas camadas subterrâneas e reconstruir o mundo a partir de seus vestígios é um programa literário antes de ser científico (2009, p. 49).
Na finalização do segundo encontro, a música Tempos Modernos, de Lulu Santos ecoou no ambiente, trazendo à memória dos cursistas não só a nostalgia de seus referidos quintais, mas a lembrança de como o tempo segue um fluxo contínuo como as águas de um rio ora calmas e cristalinas, ora turvas e caudalosas.
Por fim, o último texto selecionado para este ensaio foi Varais ou Contos de Preta Velha, escrito por Clodd Dias, disponível na obra Sobre Nossas Avós (2021), pois sua leitura evocou memórias
sobretudo maternais às mulheres que passavam manhãs e tardes no tanque ou nos rios a lavarem as roupas da família. O cheiro do sabão de coco, os pingos das roupas na face ao estendêlas em varais lembraram muitas vezes uma avó, uma mãe, mas não somente isso, relembravam também mulheres negras empregadas domésticas que abdicaram das suas existências para lavar a roupa dos outros.
Era bom demais, mas era puxado Era puxado, mas era bom demais. Suores. Lavadeira fui e não sozinha. Quantas negras sereias ali lavavam e cantavam? (Dias, 2021, p. 29)
Muitos dos cursistas partilharam experiências de infância em que se percebia a presença dessas “negras sereias”, mulheres que lavavam as roupas como se estivessem lavando a sujeira de um país desigual; que estenderam as águas das memórias em varais esperando quarar o amanhã; que ensinaram para os filhos dos outros suas ancestralidades, histórias e afetos; que cantaram cidades com o movimento de seu ofício. Nesse sentido, a música Lavadeiras representou uma espécie de máquina do tempo, pois fez com que muitos cursistas, sobretudo as mulheres, fizessem movimentos
repetitivos com as mãos como se estivessem lavando e estendendo as lâminas do passado em longos varais.
Além do Grupo de Estudos, com a oficina de manualidades, percebemos que as experiências visuais para os cursistas não foram mecânicas, nem passaram apenas pelas evidências do visível, mas foram associadas ao bordado, às práticas narrativas e à recuperação da memória a partir da fotografia, o que nos permitiu a compreensão do quanto dar a ver é algo singular para cada sujeito. Assim como as mãos tocam as linhas e escolhem as suas cores e a melhor agulha para perfurar o papel – grossa se precisar fazer um furo mais preciso, fina se precisar da precisão da delicadeza –, assim também o olhar precisa ir se apurando naquilo que a imagem pede para ser enxergado. “Ver é sempre uma operação de sujeito, portanto uma operação fendida, inquieta, agitada, aberta”, como explica o historiador da arte Georges Didi-Huberman (2010, p. 77).
Dessa forma, os participantes trouxeram imagens de seus filhos recém-nascidos ou na infância, que hoje já são adultos. Fotos de quando eram mais jovens e aproveitaram os bordados para colorir e preencher de adornos de suas
próprias imagens. Fotos com seus cachorros de estimação. As relações entre mães e filhas também foram retomadas nas imagens escolhidas. O uso de máscara no período da pandemia, imagens de si e dos outros que foram resgatadas em 50 imagens que percorreram a vida dessas pessoas, apontando para muitas outras e, principalmente, para a escavação das suas memórias e do que as fez chegar aos dias de hoje, desvelando como tais imagens se tornaram alicerces de suas histórias.
No momento de elaborar as legendas, trabalhamos juntos com cada participante e, quando já não sabiam mais o que dizer, principalmente diante daquelas imagens de mães ou avós que já tinha falecido, pedíamos para que dissessem algo para essa pessoa. Desse modo, todo o processo foi feito com o envolvimento de todos os cursistas, desde os primeiros encontros até a montagem da exposição. Como processosvivos, as imagens não estão prontas, elas se tornam um ato diante de nós, fazem-nos perguntas, pedem-nos escutas. Desta maneira, o trabalho procurou capturar cada uma dessas linhas que são também invisíveis e muitas vezes inventadas, mas não menos verdadeiras na construção de cada um que ousou abrir seus baús de memórias.
As ações desenvolvidas no âmbito do projeto Cidadania Ativa , em parceria com o grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão Rastros Urbanos, evidenciaram um potencial transformador da memória enquanto instrumento de pertencimento, de valorização da vida e de fortalecimento de vínculos sociais e afetivos.
A construção coletiva de saberes, por meio dos encontros do Grupo de Estudos e das oficinas de manualidades, especialmente a oficina de Bordado em Fotografia, permitiu que os participantes – em sua maioria pessoas idosas oriundas de territórios periféricos – compartilhassem experiências singulares, ressignificassem objetos pessoais e reafirmassem suas identidades a partir das lembranças evocadas.
A participação assídua dos 45 cursistas, a sensibilidade da mediação pedagógica e o diálogo entre teoria e prática revelaram a importância de metodologias que consideraram os tempos e os contextos daqueles que partilharam suas memórias. Nesse sentido, a utilização de fotografias, objetos afetivos, músicas e leituras cuidadosamente selecionados possibilitou
que as oficinas fossem não apenas espaços de aprendizagem técnica, mas verdadeiros territórios de escuta, afeto e invenção de narrativas.
Dessa forma, a abordagem proposta pelo projeto reafirmou o compromisso do Sesc Ceará com a democratização do acesso à cultura e ao conhecimento, promovendo o envelhecimento ativo, de forma inclusiva e significativa, ao reconhecer a memória como uma prática social viva e criadora. Assim, as atividades realizadas durante o ciclo de 2024 contribuíram para a valorização dos saberes empíricos e das expressividades locais, fomentando o pertencimento e a autonomia dos participantes.
Por fim, a culminância na exposição que reuniu fotografias bordadas, objetos pessoais e elementos da cultura cearense concretizou o percurso de escuta e a criação e partilha do que foi vivido ao longo do projeto. Nesse cenário, o passado deixou de ser apenas lembrança e passou a ser presença, performando as coisas em imagens, tecidos, palavras e gestos – reafirmando que toda história merece ser contada e que toda memória, quando partilhada, se transforma em legado coletivo.
referências
ARTIÉRES, Philippe. Arquivar a própria vida. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 11, n. 21, p. 9-34, 1998.
ASSMANN, Aleida. Espaços da recordação: as formas e transformações da memória cultural. Campinas (SP): Editora da Unicamp, 2011.
BARROS, Manoel de. Memórias inventadas. São Paulo: Alfaguara, 2018.
BENJAMIN, Walter. Rua de mão única 5. ed. São Paulo: Brasiliense, 2009.
CHAVES, Angela. As gavetas da avó de Clara. São Paulo: Ibep, 2018.
DIAS, Clood. Varais ou contos de preta velha. In: RIBEIRO, Maria Aparecida Silva (org.). Sobre nossas avós: memória, resistência e ancestralidade. Campinas: Pontes, 2021.
DIDI-HUBERMAN, Georges . Quando as imagens tomam posição. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2017.
DIDI-HUBERMAN, Georges. O que vemos, o que nos olha. Tradução de Paulo Neves. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2010.
DIDI-HUBERMAN, Georges. Quando as imagens tocam o real. Pós: Revista do Programa de Pós-Graduação em Artes da EBA/UFMG, Minas Gerais, UFMG, v. 2, n. 4, p. 206-219, nov. 2012. Disponível em: https://periodicos. ufmg.br/index.php/revistapos/article/ view/15454. Acesso em: 7 abr. 2025.
GÓIS, Ivoneide. Territórios da memória Poço da Draga. Fortaleza: s. n., 2019.
INGOLD, Tim. Trazendo as coisas de volta à vida: emaranhados criativos num mundo de materiais. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 18, n. 37, p. 25-44, 2012.
INGOLD, Tim. Estar vivo: ensaios sobre movimento, conhecimento e descrição. Petrópolis: Vozes, 2015.
PINÕN, Nélida. Uma furtiva lágrima Rio de Janeiro: Record, 2019.
RANCIÉRE, Jacques. A partilha do sensível: estética e política. São Paulo: Editora 34, 2009.
SILVA, Cristina Maria da; BRAGA, Francisco Felipe Pinto. Narrativas na cidade em álbuns fotográficos: a Fortaleza que se encontra em acervos fotográficos pessoais. RUA, Campinas, SP, v. 25, n. 2, p. 415-439, 2019. Disponível em: https://periodicos.sbu. unicamp.br/ojs/index.php/rua/article/ view/8657561. Acesso em: 7 abr. 2025.
SILVA, Cristina. Maria da. A composição de um álbum fotográfico: os rastros de uma avó materna. Revista Brasileira de Pesquisa (Auto)biográfica, [s. l.], v. 1, n. 3, p. 428-446, 2016. Disponível em: https:// revistas.uneb.br/index.php/rbpab/article/ view/2995. Acesso em: 7 abr. 2025.
SIMMEL, Georg. Ensaios sobre a teoria da história. Rio de Janeiro: Contraponto, 2011.
Olívia Tamie Okasima Historiadora e atriz, há 15 anos trabalhando com cultura. Atuou na Cia. do Latão e na Bienal de São Paulo. Hoje é técnica de programação e do Trabalho Social com Pessoas Idosas (TSPI ) no Sesc Ipiranga. olivia.okasima@sescsp.org.br
O Sesc Ipiranga promove regularmente atividades artísticas voltadas para o público idoso, oferecendo um espaço de expressão e criação artística. A unidade conta com a participação ativa de um grupo de frequentadores, herança do antigo centro de convivência para idosos existente no território. Essa presença consolidou-se ao longo dos anos, com participação em cursos de artes cênicas, música e artes manuais, o que marcou uma trajetória de pertencimento que persiste até os dias atuais.
Por meio de encontros regulares com esse grupo, principalmente durante os Pontos de Encontro1, foi expressado o desejo de trabalhar uma dramaturgia. Em resposta a esse anseio, foi criado, em fevereiro de 2025, o curso Jogos Teatrais para Pessoas Idosas: Entre Romeus e Julietas, conduzido pelo artista e educador Fernando Aveiro.
No presente relato de experiência abordo não apenas o processo de construção do espetáculo em questão, mas também apresento uma breve entrevista realizada com algumas participantes do projeto.
1 Encontro para refletir sobre as atividades recorrentes para pessoas 60+ no Sesc, que traz rodas de conversa e atividades socioculturais e educativas. É parte integrante do programa Trabalho Social com Pessoas Idosas (TSPI), que visa promover, principalmente, a sociabilização, a reflexão sobre o envelhecimento, o desenvolvimento de novas habilidades e a integração com as demais gerações. Fonte: https:// www.sescsp.org.br/ programacao/ponto-deencontro-27/. Acesso em: 19 mai. 2025.
Não foi à toa a escolha do clássico de Shakespeare, atualizado especificamente para esse grupo que colocou a maturidade também como narrativa cênica.
“Pois entre tantas reflexões, a oficina nos mostrou que o casal de enamorados shakespeareanos podem ter 15 anos, 60 ou mais”, afirmou Aveiro.
O CURSO
A proposta de Fernando uniu práticas lúdicas de jogos teatrais, que envolviam criatividade, concentração e memória, proporcionando, assim, um ambiente de experimentação e diálogo entre o grupo. O curso começou no dia 11 de fevereiro de 2025, com inscrições esgotadas e lista de espera. No primeiro dia de aula havia 42 pessoas. A procura pelo curso foi surpreendente, pois essa proposta trouxe novos alunos e, consequentemente, novos membros participantes das atividades do Trabalho Social com Pessoas Idosas (TSPI) na unidade.
Durante os encontros realizados no projeto, o professor Fernando conduzia as atividades de forma dinâmica, propondo inicialmente exercícios voltados à concentração, à memória e à cooperação entre as participantes. Essas dinâmicas, com o tempo, se transformavam em ensaios teatrais, dando início ao processo criativo coletivo.
Dentre os exercícios propostos, destacou-se como o favorito o jogo Zip Zap Boing, apreciado pela maioria das participantes – vale mencionar que o grupo era majoritariamente feminino, contando com apenas um homem.
O jogo consistia na transmissão de movimentos entre os integrantes da roda: o comando Zip correspondia a uma palma direcionada a qualquer pessoa; Zap, uma palma para a pessoa ao lado, esquerdo ou direito; e Boing, a um gesto corporal arredondado (utilizando o corpo todo) que devolvia o movimento à origem. A atividade estimulava não apenas a coordenação motora, mas também a atenção plena e o vínculo entre os participantes.
Conforme relatado por Noêmia, de 77 anos, Zip Zap Boing provocava a nossa concentração e nos fazia conhecer a outra pessoa, como ela reagiria”.
A partir dessas dinâmicas, Fernando introduziu progressivamente a dramaturgia. A peça escolhida foi uma releitura de Romeu e Julieta, cuja encenação foi construída de forma colaborativa, com base em improvisações e diálogos constantes entre o professor e o grupo. Esse processo promoveu não apenas a atuação teatral, mas também a expressão de outras linguagens artísticas.
Nesse sentido, destacam-se as contribuições vindas da experiência prévia de muitas participantes do Canto Coral, que permitiram a inclusão
do canto em algumas personagens. Além disso, foras trabalhadas as artes visuais, através da confecção de máscaras e adereços, em oficinas realizadas no Espaço de Tecnologia de Artes (ETA). Essas práticas reforçaram o caráter multidisciplinar do processo, ampliando as possibilidades expressivas e fortalecendo o senso de pertencimento no projeto.
Ao longo do processo, o professor-diretor enfrentou alguns desafios relacionados à condução do grupo. Entre eles, destacaram-se as diferenças no ritmo de aprendizagem das participantes, decorrente dos diversos processos de envelhecimento e o número elevado de pessoas interessadas em integrar a atividade. Tais questões exigiram estratégias pedagógicas que garantissem a participação de todas e a vivência plena do processo criativo.
Com esse objetivo, Fernando adotou a metodologia do “personagem coringa”, inspirada em abordagens colaborativas e rotativas. A partir dessa proposta, o grupo foi dividido em dois núcleos simbólicos – os Montéquios e os Capuletos –, representados visualmente pelas cores dos acessórios, vermelho e preto. No interior de cada
grupo, foi estabelecido um sistema de rodízio de papéis, de forma que as personagens centrais da trama – como Julieta, Romeu, o Padre e a Ama – fossem interpretadas por diferentes participantes ao longo dos ensaios.
Essa escolha metodológica permitiu que todas tivessem a oportunidade de experimentar diversos lugares cênicos, da personagem principal, do coadjuvante e do coro.
No dia da apresentação, as atrizes puderam vivenciar uma experiência teatral quase completa. O camarim foi disponibilizado com antecedência de duas horas, oferecendo um ambiente com café e biscoitos, que permitiu momentos de concentração, conexão com o grupo e preparação emocional para a entrada em cena. A estrutura do espaço também colaborou com essa atmosfera: a área de convivência estava cheia, com cerca de 70 cadeiras ocupadas, além dos sofás lotados, enquanto a área cênica foi organizada com iluminação técnica apropriada, utilizando refletores do tipo Fresnel e Par LED com uma luz âmbar.
A apresentação, com duração aproximada de 30 minutos, materializou a trajetória colaborativa desenvolvida ao longo dos encontros.
Durante o espetáculo, as idosas demonstraram grande capacidade de adaptação, enfrentando com espontaneidade e humor situações de improviso geradas por esquecimentos de texto, alterações na movimentação ou mesmo imprevistos cênicos, como a espada que ficou presa no figurino.
O encerramento foi marcado por forte emoção: o público aplaudiu de pé, reconhecendo o empenho e a entrega das atrizes. Todas as participantes demonstraram grande satisfação com o resultado, orgulhosas de sua trajetória.
O curso Entre Julietas e Romeus foi a segunda experiência teatral do educador Fernando Aveiro com o público 60+. Da primeira vez, também no Sesc Ipiranga, ele trabalhou colhendo depoimentos pessoais dos participantes e transformando as vivências em cena; que fazia com que cada atuante entrasse em contato com a sua memória – saudosa ou melancólica.
Desta vez, a proposta foi entrar na ficção, para que cada pessoa pudesse passar pela experiência de viver um outro ser em cena. Não foi à toa a escolha do clássico de Shakespeare, atualizado especificamente para esse grupo que colocou a maturidade também como narrativa cênica.
“Pois entre tantas reflexões, a oficina nos mostrou que o casal de enamorados shakespeareanos podem ter 15 anos, 60 ou mais”, afirmou Aveiro.
ARTÍSTICA APÓS OS 60
Embora muitas participantes do TSPI já tivessem vivenciado outras atividades ligadas ao eixo de arte e expressão, para diversas delas esta foi a primeira experiência artística na cena teatral com uma dramaturgia. O depoimento de Rosalice ilustra o impacto desse processo:
Meu Deus, esse povo sabe tudo e eu não sei é nada [risos]. Mas fui me encaixando, me enturmando. O professor nos deixava à vontade, ele acatava sugestão, melhorava. Foi me deixando mais segura. Pensei: “Será que eu vou dar conta?”. Eu estava nervosa, mas no fim, com o trabalho que a gente fez, senti que saiu tão bonitinho, eu me diverti. Todas de 60+, 70+, fazendo uma coisa tão descontraída, feliz, todo mundo alegre. Foi uma experiência maravilhosa. Já tive experiência com coral, mas é uma coisa mais contida; ali não, era mais solto.
A fala de Rosalice dialoga diretamente com os princípios defendidos por Augusto Boal em sua obra Teatro do Oprimido e Outras Poéticas Políticas (1975), na qual o autor afirma:
“O ser humano atua e observa, modifica e é modificado. Ele é, ao mesmo tempo, espectador e ator: espect-ator” (BOAL, 1975, p. 23).
Essa perspectiva rompe com a ideia tradicional de que apenas pessoas com formação ou experiência prévias podem participar do fazer teatral. Ao contrário, evidencia que todo sujeito é, por natureza, um ser atuante, capaz de interagir com o mundo de forma crítica e criativa. Assim, mesmo aquelas participantes que nunca haviam pisado em um palco foram capazes de vivenciar plenamente o processo teatral, contribuindo com suas visões de mundo e sendo, ao mesmo tempo, transformadas pela experiência.
Ao ocupar o palco, essas pessoas idosas não apenas representam uma história, mas protagonizam sua própria transformação, são sujeitas de si e do seu fazer artístico. O público, quando assiste a pessoas idosas produzindo arte também é modificado. Dessa forma, o teatro se concretiza como um espaço de expressão crítica e de afirmação da potência criativa da velhice, muitas vezes invisibilizada socialmente.
“O ser humano atua e observa, modifica e é modificado. Ele é, ao mesmo tempo, espectador e ator: espectator” (BOAL, 1975, p. 23).
Após a finalização do curso, realizei uma breve entrevista com um grupo de cinco mulheres idosas, algumas previamente mencionadas. Esta etapa teve como objetivo compreender as transformações promovidas pela vivência teatral, bem como refletir sobre possíveis desdobramentos.
Durante a entrevista, destacou-se, de forma recorrente, a socialização proporcionada pelo processo. As participantes relataram que o teatro foi um instrumento de fortalecimento de vínculo, que promoveu união, respeito e colaboração.
As entrevistadas são: Ivonete Carvalho de Sousa (66 anos), Meire Isidra Pedreira Tardioli (69 anos), Rute Aparecida Pinto Lúcio (70 anos), Noemia Carvalho Ramos (77 anos) e Rosalice de Marchi (77 anos).
olívia – sesc ipiranga Em algumas palavras, como foi o curso de Teatro para Pessoas Idosas?
rute Foi tudo muito gostoso, porque o Fernando é uma pessoa que agrega, né? Hum, ele, ele tentou agregar todas nós, ele não queria que a gente sentisse menos.
meire Bom, o Fernando... ele é incrível, né? Ele agrega, nos ajudou bastante. No começo, algumas pessoas tiveram um pouco de dificuldade com o texto. Confesso que eu não tive, porque já venho do teatro, então, pra mim, foi mais fácil. Mas senti que, de modo geral, o pessoal teve dificuldade. Era um texto grande. Mas o teatro, o que ele faz? Ele invoca sentimentos, né? Então foi um negócio muito bacana. O Sesc nos obriga a sair de casa, e isso é muito bom – porque eu sou preguiçosa! Aí, no dia do teatro, eu já fico toda empolgada: “Nossa, eu vou lá, vou fazer isso!”. Na segunda semana, eu já tinha decorado o meu texto. E, no geral, senti que o grupo estava muito motivado. Algumas pessoas saíram, sim, mas a maioria permaneceu bem envolvida. E, pelo curto espaço de tempo que tivemos, acho que nos saímos muito bem. Mandamos muito bem, mesmo! Eu fiquei emocionada. Depois que assisti à apresentação [gravada], eu chorei. Confesso que, lá em casa, à noite... eu chorei.
ivonete Então... o Fernando, eu não o conhecia, né? Eu o achei maravilhoso. A dinâmica dele, de agregar a todos... Pela idade, algumas tinham dificuldade, né? São pessoas todas idosas, muitas com dificuldades, e ele agregou de uma forma tão especial. Foi maravilhoso!
rosalice Esse negócio sou eu, né, Olívia? Eu nunca tinha feito nada assim, de teatro. Aí vim pra esse grupo... Nossa, no primeiro dia que cheguei, pensei: “Meu Deus, esse povo aqui sabe tudo, e eu... nada!”. Uma fazia isso, outra fazia aquilo. Mas eu sei que fui me encaixando. Como todos já disseram – e eu vou repetir – o Fernando deixou a gente muito à vontade, sabe? Ele aceitava sugestões, melhorava o que a gente trazia, e assim fui me sentindo mais segura para participar de tudo. No dia da apresentação, eu estava tão nervosa! Pensei: “Será que eu vou dar conta?”. Eu estava gelada. Coloquei a mão assim [juntando as duas mãos], e senti como eu estava tremendo! Mas no fim, com todo o trabalho que a gente fez, eu senti que saiu tão bonitinho, tão gostoso... Me diverti, foi lindo! E no final, os meus netos, que vieram assistir, e minha irmã também, falaram: “Olha que coisa maravilhosa! Todas com mais de 60, 70 anos, como você, fazendo uma coisa tão descontraída, tão boa, tão à vontade!”. Estava todo mundo se divertindo, todo mundo alegre. Pra mim, foi uma experiência maravilhosa. Eu já tinha experiência em coral, que é algo mais contido, né? Você precisa decorar a partitura direitinho... Mas ali não, foi mais solto, fluiu. Olha, foi uma beleza! Fiquei muito feliz com o resultado. Fiquei mesmo.
Me diverti, foi lindo! E no final, os meus netos, que vieram assistir, e minha irmã também, falaram: “Olha que coisa maravilhosa! Todas com mais de 60, 70 anos, como você, fazendo uma coisa tão descontraída, tão boa, tão à vontade!”
olívia – sesc ipiranga Como foi a apresentação? Pelo que vocês já comentaram foi muito divertido e engraçado.
ivonete Foi divertidíssimo!
rute O ensaio não era assim, o ensaio era mais sério, mais concentração.
olívia – sesc ipiranga Então na apresentação vocês conseguiram relaxar?
noemia Sim, foi prazeroso.
rosalice Na apresentação fluiu mais.
meire Foi muito legal, o que uma faltava a outra fazia. Rolou uma cooperação real. Aquela coisa: “Não era para outra ter levantado?”, aí uma ia lá e levantava no lugar da outra pessoa que se esqueceu.
rute Cooperação sem cobrança. Por exemplo, teve gente que pulou uma página inteira da fala dela, a gente ficou meio assim... e, de repente, fluiu e ninguém fala “poxa... você deu furo!”. O professor falou: “Errou? Continua, o público não sabe se vocês erraram”.
noemia Ele falou: “Criem soluções!”.
meire Mesmo sem deixa, comecei a falar. No teatro é assim. Todos entenderam e saímos na paz.
olívia – sesc ipiranga Caso vocês já tenham feito teatro antes, qual a diferença de fazer teatro antes e após os 60 anos?
ivonete Depois dos 60 foi muito melhor, não estou comprometida [com coisas fora daqui], estou totalmente à disposição, sendo muito mais gratificante, mais descontraído.
rosalice Fernando nos deixou bem à vontade, bem descontraídas. Mesmo as colegas não cobravam umas das outras, o ambiente ajudava, fiz amizades com várias.
meire No teatro não tem idade, você pode ser uma menina de 20 e poucos anos, ser rica, ser boazinha, ser ordinária... É uma magia! Essa magia que encanta. Você pode ser tudo!
olívia – sesc ipiranga
O que é arte para vocês?
meire Tudo! noemia e rute É vida!
noemia Envolve tudo, é a música, o texto, é a poesia, tudo aquilo que não se coloca em palavra, tem o movimento, a performance...
rosalice Arte é viajar, extrapolar, colocar a sua criatividade que fica guardada em uma gavetinha. Arte faz você extrapolar a vida!
ivonete A arte traz o real para a brincadeira e a brincadeira para o real. Tanto critica quanto elogia. Ajuda a dizer o que não pode ser falado. Arte é tudo!
olívia – sesc ipiranga Quais são os pontos positivos do fazer teatral para saúde, seja física ou mental?
noemia Ajuda na qualidade de vida, você se distrai, se envolve. A mente fica leve, você é você mesma, sem se preocupar com julgamentos. Faz novas amizades, pessoas que talvez tenham o mesmo problema, e passa a ter o conhecimento que você não é sozinha. Não é sozinha naquela dificuldade. Te deixa leve, solta e espontânea, deixa ser você mesma.
rute Ao mesmo tempo, nos levanta a responsabilidade, tem outras pessoas que estão ali e que precisam de você, do seu personagem, é tudo uma ligação. Não é porque é uma brincadeira que você não vai ser responsável.
meire Ajuda no comprometimento. Um grupo tem uns mais comprometidos, outros menos comprometidos, mas, em sua maioria, muito comprometidos. Concordo com a Noemia quando fala da leveza. A gente vira como uma família. É tão legal e tão intenso que eu saio de casa, fecho minha porta, vou lá para o teatro e esqueço os problemas. Até achei que amava por demais o Theobaldo [risos de todas].
rosalice A arte tem esse poder de tirar a gente da realidade, dos nossos sofrimentos, das nossas preocupações, de nos tirar desse lugar-comum. Eleva você. De repente, você está viajando.
noemia Autoestima, você não consegue decorar, não tem boa memória, mas você fala com as suas palavras e quando termina, você conseguiu. Te traz um prazer, um prazer imenso. Uma alegria... eu consegui! Essa autoestima é muito importante.

“A minha velhice está renovando a minha carreira”

Aos 92 anos de idade, 72 anos de carreira, Othon Bastos tem levado aos palcos do Brasil o espetáculo Não me Entrego, Não!, que esteve em cartaz no Sesc 14 Bis de 21 de março a 21 de abril e foi visto por 8.800 pessoas. A peça estreou em 2024 no Rio de Janeiro e atualmente realiza temporadas pelo país. Somente no Rio apresentou-se para 40 mil pessoas.
O espetáculo é um monólogo baseado em sua vida, escrito e dirigido pelo amigo roteirista e diretor Flávio Marinho. O texto foi construído com base em um calhamaço de anotações e textos do ator, realizados ao longo de sua carreira.
Othon nasceu em 1933 em Tucano, na Bahia. Começou sua carreira na década de 1950. No filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 1964, dirigido por Glauber Rocha, se consagrou ao encarnar o cangaceiro Corisco.
No teatro, trabalhou com grandes nomes da cena nacional como Zé Celso e Gianfrancesco Guarnieri. Teve sua própria companhia de teatro com sua esposa, a atriz Martha Overbeck, com quem está casado há 60 anos. Fez, entre outras peças, As Três Irmãs, de Tchekhov, Um Bonde Chamado Desejo, de Tennessee Williams, e o Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Encenou
Castro Alves Pede Passagem, de Gianfrancesco Guarnieri, Murro em Ponta de Faca, de Augusto Boal, e Calabar – O Elogio da Traição, de Chico Buarque e Ruy Guerra.
Nos anos 1990, dois filmes nacionais que tiveram sua participação concorreram ao Oscar de melhor filme estrangeiro: O que É Isso, Companheiro?, de Bruno Barreto, e Central do Brasil, de Walter Salles. No espetáculo, Othon ironiza as participações dizendo que foi praticamente um “coadjuvante de luxo”.
É recordista em participações na TV, já tendo trabalhado em mais de 80 produções entre novelas, séries, minisséries e casos especiais nas diversas emissoras pelas quais já passou.
Na entrevista, Othon revela que chegou aos 92 anos com muito otimismo e alegria de viver. O ator valoriza suas memórias, mas não se prende a elas. Sente falta dos seus pares do passado, mas segue em frente com novas parcerias.
Gostaria de saber quais são as coisas às quais você não se entrega e não se entregou, considerando o título do seu espetáculo Não me Entrego, Não!, que fala da sua vida e carreira. bastos Eu acho que, com o passar do tempo, você vai tomando consciência da sua vida. Eu não poderia falar essa frase antes de todo esse tempo de carreira, de tudo que aconteceu na minha vida. Se você pergunta isso, vem, imediatamente, na minha cabeça, a Violeta Parra: “Gracias a la vida, que me ha dado tanto” e eu digo “Graças a minha vida, por ela ter me dado tanto”. Eu sou grato ao que me aconteceu, às coisas ruins e amargas. No meu espetáculo, você não tem um momento das amargas, você tem só a possibilidade de viver. Acho que viver é mais importante do que a posteridade, como disse Mário de Andrade, a verdade é isso. Nós não podemos perder a alegria de viver. Só envelhece aquele que já desistiu de viver ou aquele que não respeita sua própria velhice, não é digno dela. Então, a peça se resume num poema do Mário Quintana, quando ele diz: “Eu não tenho paredes/eu só tenho horizontes”. A minha peça é isso. Eu vou derrubando as paredes e mostrando os horizontes por onde caminho e para onde vou. Como Martin Luther King falava:
"Se você não puder voar, você deve correr, se você não puder correr, você deve andar, se você não puder andar, você rasteja, vai rastejando," mas vai no sentido do seu destino, da sua vida.
De onde você tira tanta energia para fazer o espetáculo de quinta a domingo? Alguma preparação especial? bastos (risos) Eu peço emprestado, eu alugo energia. Se eu pudesse, ficaria numa avenida grande, a mais importante que tivesse na cidade, com uma baciazinha, dizendo: “Por favor, me dê o tempo que você perdeu”. Então, eu fui atleta quando jovem. Eu fiz aquilo que poderia fazer como jovem. Fui atleta, fui feliz, e isso você vai guardando dentro de você. Tem um grande pensador e ator japonês que diz que o ator deve visualizar sempre que está com uma sacola e em cada momento estar presente e pegar aquele momento, botar dentro da bolsinha e ir botando. Um dia, quando ele estiver em cena e precisar de um momento igual aquele, ele tira o que tem naquela bolsinha e vive aquele momento. Eu não fiz nada demais, nem descobri nada de extraordinário. Eu descobri a vida. A vida ajuda isso. A verdade é que fiz o que era possível fazer e por determinado tempo. Talvez tenha estado dentro de mim, como diz a frase:
Se viver eternamente saudoso, você não vive. Você vai estar sempre cuidando da tua saudade. Saudade você tem, mas tem que ir em frente. Eu tenho certeza que se você for em frente, a tua saudade vai com você, ela vai te ajudando a ir em frente.
“Você deve sempre arranjar um momento para você fazer uma viagem para dentro de você mesmo. É nessa viagem que você vai se conhecer”. Então, eu faço essa viagem, eu penso muito nisso e peço a Deus, o que eu gostaria de pedir a Deus? Que me dê um pouco mais de força, um pouco mais de energia para conseguir fazer essa peça nos lugares em que as pessoas precisem dessa peça. Então, essa energia é tirada de mim mesmo, dentro de mim mesmo, com auxílio das entidades, dos santos, dos mestres que me deram essa energia. Se eu a tenho, eu quero tê-la comigo sempre para fazer esse espetáculo. Acho que a maior recompensa que eu tenho é o que estou vendo aqui em São Paulo. O prazer com que as pessoas veem o espetáculo e sentem o espetáculo e o prazer que eu tenho. Quando eu entro naquela porta, a primeira coisa que peço é que Deus me dê força para ter essa energia do espetáculo.
Em uma entrevista o Flávio Marinho, diretor do espetáculo, disse que a peça também toca na questão do preconceito contra quem envelhece, o idadismo. Ele explicou que colocar você em cena, um ator com 91 anos, com toda sua potência, só isso já é uma maneira de se combater o idadismo. Você concorda com ele?
bastos Só envelhece aquele que já desistiu de viver. Enquanto você tiver força para viver, você não está envelhecendo. Pelo contrário, você está caminhando com segurança e firmeza. Viver, eu acho a coisa mais importante. Viver. Eu quero viver. Clint Westwood, aquele ator, perguntaram a ele como tinha tanta energia de entrar num botequim, brigar com um, atirar no outro, e ele disse: “Muito simples. Todo dia, de manhã, quando eu acabo de fazer minha oração, eu digo aqui na cama: Deus! Deus! Não deixe a velhice entrar”.
Continuando nessa mesma questão, muitas pessoas jovens vieram ver o espetáculo e a gente escutou na saída do teatro “nossa, quando eu tiver 90 anos, eu quero ser igual ao Othon”. bastos Pelo amor de Deus, eu não quero ser guru de ninguém. Não quero que ninguém me siga em nada. Eu quero que as pessoas caminhem com seus próprios pés e sigam em frente. Que saibam enfrentar a vida, não é desistir no primeiro obstáculo, pelo contrário. Eu li uma frase, que dizia assim: “O atleta não deve gabar-se nunca das medalhas que traz no peito, mas sim dos obstáculos que conseguiu ultrapassar”. Isso que é a vida. Você saber ultrapassar os obstáculos. Nietzsche dizia: “O sucesso é um grande mentiroso”. Isso, eu acho uma frase antológica.
Ele dizia: “O sucesso está aí, qualquer um pode ter sucesso, o que não pode é você fazer de escada o ombro do teu companheiro”. A verdade é que eu quero viver e doar o que sei para as pessoas. Não adianta você saber e ficar dentro de você. Quem é que vai saber que você sabe? Então é isso. Você precisa ser aquilo que você é mesmo. O Jung diz uma coisa maravilhosa: “Você nasce original e morre cópia”. Já Oscar Wilde diz outra frase linda: “Seja o que você quer ser, e seja você. E não se esqueça que as outras personalidades já têm dono”. Isso que é a vida. Isso que eu acho que é ser alguém na vida. O Fernando Pessoa tem uma frase que todo mundo devia ler: “Trabalhar é trabalhar-se”. Acho que isso é uma resposta para quase tudo. Eu trabalho para me trabalhar.
Você tem no palco uma personagem que faz a sua memória e ela atua junto com você. O que é a memória para você? bastos É tudo isso que eu vivi. Eu não fico trazendo comigo a minha memória. Eu não estou arrastando a memória. A memória é minha companheira inseparável. Você tem sua memória, você está com ela sempre, você a usa quando precisa, usa quando você quer usar. Quando criamos essa personagem memória, pensamos naquela que vai te auxiliar.

Você se esquece de alguma coisa, você perde um milímetro e ela te lembra. Essa memória, você nunca vai deixá-la. É a sacolinha do ator japonês que dizia “quando você precisar, você tira”. Essa memória que está sempre com você. Ainda bem que ela está comigo.
Você cita no espetáculo uma frase da escritora estadunidense
Emily Dickinson, poderia comentar um pouco? bastos Essa frase tem uma história longa e bonita. Meu pai era um poeta bissexto, e o que era bonito é que ele reunia na casa dele os poetas amigos e fazia saraus. E eu, com dez, onze anos, ficava ouvindo e fui me acostumando. Fui aprendendo a ouvir poesia, a gostar de poesia. Volto sempre no Mário Quintana, ele diz o seguinte: “Poesia boa é aquela que dá a impressão que está lendo você e não você a ela”. Isso que é a beleza da poesia. Então, eu via aquelas coisas, eles recitando de maneira dramática, e eu dizia: “Está errado, não é assim que se lê”, a poesia você deve contar, falar. Aí meu pai tinha os livros na mesinha de cabeceira dele, e eu pegava e ficava vendo e essa frase estava dentro de um livro que meu pai tinha, de Emily Dickinson, e essa frase estava destacada: “Eu nasço contente todas as manhãs”.
Eu acho uma das coisas mais lindas que você pode ter. Toda vez que leio essa frase, eu me emociono. É uma frase linda: “A vida é você nascer contente todas as manhãs”. É o Clint: “A velhice não entra, a velhice não entra, a velhice não entra”. Até agora, eu não ofendi ninguém, não desejei coisas de ninguém, quero viver a minha vida. Quero que me ajude agora, Senhor, daqui a pouco vou me levantar e vou sair da cama. Daí, é que eu preciso muito da sua ajuda. Isso que eu preciso, quer dizer, antes de sair de casa, reze. Quando voltar para casa, agradeça por você ter passado o dia e estar vivo. Ter vivido.
Como é envelhecer no palco? Envelhecer como artista. Você vê alguma diferença de quando você era jovem e agora? bastos Não vejo diferença. Só melhorou uma coisa. Eu tenho mais experiência na vida. Cada dia que você vive, você ganha experiência. Você tem que saber aproveitar essa experiência. Ela não está te dizendo: faça assim. Ela não te dá conselho, ela deixa você viver. Ela pode te ajudar em alguma coisa, mas ela não vai dirigir você na vida, não. Você vai, faz o que acha que deva ser feito. Sabe, o Jung tem uma coisa maravilhosa, eu acho que resume também muita coisa: “Se você estiver diante de um espelho e você perguntar: quem sou eu?
O espelho vai responder para você: as suas escolhas”. Você é responsável por suas escolhas e não pelas coisas que acontecem a você.
Durante o espetáculo você cita muitas pessoas que já partiram. As pessoas que envelhecem normalmente sentem muita falta dos pares com quem conviveram ao longo da vida. Você sente essa falta também?
bastos Sentir falta, saudade é uma coisa que você vai sentir sempre. Saudade da minha mãe, eu perdi minha mãe com dois anos de idade, quer dizer, eu não conheci minha mãe. Então, eu imagino como ela poderia ser como ser humano.
Então, você pode começar a viver de saudade. Se viver eternamente saudoso, você não vive. Você vai estar sempre cuidando da tua saudade. Saudade você tem, mas tem que ir em frente. Eu tenho certeza que se você for em frente, a tua saudade vai com você, ela vai te ajudando a ir em frente. Não precisa ficar: “Ah, meu Deus, ah, se minha mãe estivesse viva, se meu pai estivesse vivo...”. Eles te puseram no mundo, mas eles não têm a obrigação de ficar com você eternamente. Quem tem que fazer a tua vida é você. Não é teu pai e nem tua mãe.
Como foi ganhar o Prêmio Shell? Você esperava ganhar o prêmio de melhor ator com o espetáculo Não me Entrego, Não! aos 91 anos? bastos (risos) Eu já ganhei vários prêmios, mas esse trouxe um fato curioso que é o seguinte: o Harold Lloyd, que é um grande cômico americano, dizia uma coisa que eu acho que vale para esse Prêmio Shell. Ele dizia: “Eu levei 70 anos para fazer sucesso da noite para o dia”. E eu, com 90 anos, 76 de carreira, faço sucesso. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que prêmio é um acidente. Você ganha ou não ganha. Para mim, o que é importante não é estar com a estatueta na mão. O importante é você ser selecionado para concorrer ao prêmio. Eu acho que o ser selecionado já é o prêmio. Esse já é um grande prêmio. Você tem cem peças em cartaz, o cara vai lá e pinça você, já é um prêmio. Você não precisa estar com a estatueta na mão. Por isso que eu digo, qualquer um que ganhasse o Prêmio Shell desse ano, todos, qualquer um mereceria ganhar o prêmio. Se eu fui o escolhido, foi sorte. Laurence Oliver dizia, e eu digo na peça também: “Não basta ser talentoso, você tem que ter sorte também”. Então, eu tive sorte de ganhar esse prêmio, assim como o Kikito de cristal, do Festival de Gramado. Ninguém falou na rua, “ganhou o prêmio!”. Sou lindo? Não.

Othon em frente a foto do personagem que o consagrou no cinema: o cangaceiro Corisco
O espetáculo já rendeu um livro, o Prêmio Shell, o que mais?
bastos Só falta um filho agora... (risos)
Um filme talvez.
bastos O filho já tenho. Já tem 47 anos. Vivo com a minha mulher, a mesma mulher, gente, não é pulando de galho em galho, é com a mesma mulher, há 60 anos. Estou feliz. O que tem a mais para dizer? Eu sou uma pessoa feliz de ter uma mulher há 60 anos, ter um filho de 47 anos e ter uma carreira, que agora parece até nova. Estou renovando a minha carreira com a minha velhice. A minha velhice está renovando a minha carreira.
Você fala, no espetáculo, que o segredo do seu casamento é amar e escutar... bastos Acho que são duas palavras que devem ser de maior importância na relação.
Só que é o seguinte, você pode amar, você pode! O amor acaba! Mas existe uma coisa, que se você fizer pela vida inteira com sua companheira, uma coisa chamada amizade, amizade leva você a qualquer lugar. A coisa mais importante na vida é você ter um amigo. E se você tem aquela companheira como amiga, é mais importante ainda. A pessoa que você amou, ama, ainda está vivendo com ela, e você sabe que ela é uma grande amiga.
Dá conselho, te dá direções, discute com você, mas não é uma discussão de jogar pratos, é uma discussão de pessoas que se amam. E que são amigas. O Vinicius disse que “amigo é uma coisa que a natureza dá e você não sabe de onde veio”. É uma coisa linda. E o que é isso? Amizade é isso. Acho que a coisa mais linda do mundo é você ser e ter um amigo.
E quais os planos para o futuro? bastos Não faço e não farei. Acho que o futuro está lá, devo chegar a ele. Lá ele vai me dizer o que devo fazer. Eu não fico planejando, “vou fazer o Hamlet, vou fazer isso, vou fazer o Rei Lear ”, são sonhos. O importante é fazer. É fazer. É trabalhar. É isso que eu quero.
O espetáculo apresenta uma entrega total sua como ator, principalmente quando se aproxima do final. bastos Eu estou me entregando. Os aplausos vêm porque as pessoas estão emocionadas. Eu vejo o impacto que causa. Cada vez levo um susto. Eu penso: “Meu Deus, então, eu consegui transmitir o que eu quero”. O Flávio (diretor) teve esse momento dele, de criação, ele termina a peça de maneira brilhante. É despertar nos outros o que a gente vem transmitindo o tempo inteiro.
Não se abata, não se abata não. Vamos em frente, passe pelos obstáculos, vai. Eu vou levando o público até o final. Terminar o espetáculo com aquele momento de Lorca. Um poeta extraordinário. E termino dizendo aquela coisa linda sobre o teatro. “O teatro é a poesia que se levanta do livro”, nem Shakespeare diz isso.
Othon, se você fosse olhar para sua memória, qual seria a melhor época da sua vida? Você já pensou nisso? bastos Eu acho que cada momento da sua vida é o momento em que você é feliz. Cada momento. Eu seria injusto comigo mesmo ao dizer que eu gostei mais disso do que dos outros momentos meus... onde eles ficam? São todos eles juntos. Para mim, o grande momento da minha vida é o que estou vivendo hoje, no presente. Nesse momento. Fazendo essa peça e tendo esse calor humano que me chega da peça. Você não sabe como chego no final do espetáculo, quando digo: “Não me entrego, não”, eu estou dizendo uma verdade para mim mesmo. Estou dizendo: não vou me entregar, enquanto eu tiver possibilidade, enquanto eu tiver força no meu coração, eu estarei dizendo: Não vou me entregar!
Por Emídio Luisi. Nascido na Itália,começou a fotografar na década de 1970. O artista, em seus mais de 50 anos de carreira, tem uma trajetória diversa, atuando em fotojornalismo, espetáculos de teatro, espetáculos de dança, etnofotografia e ensaios pessoais. Acompanha o Ballet Stagium desde 1971. Apresenta aqui fotos de ensaios do espetáculo Corpos Velhos

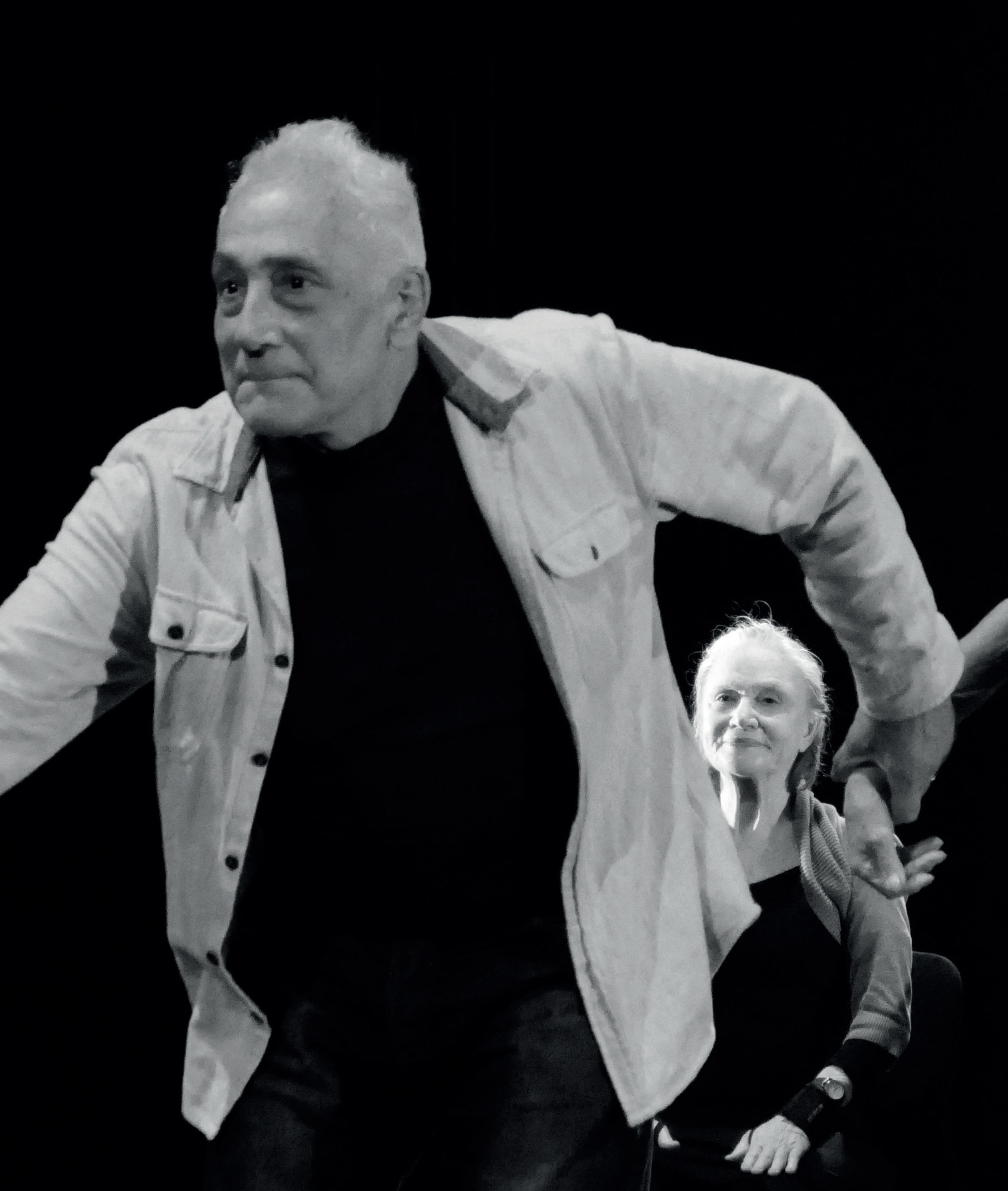
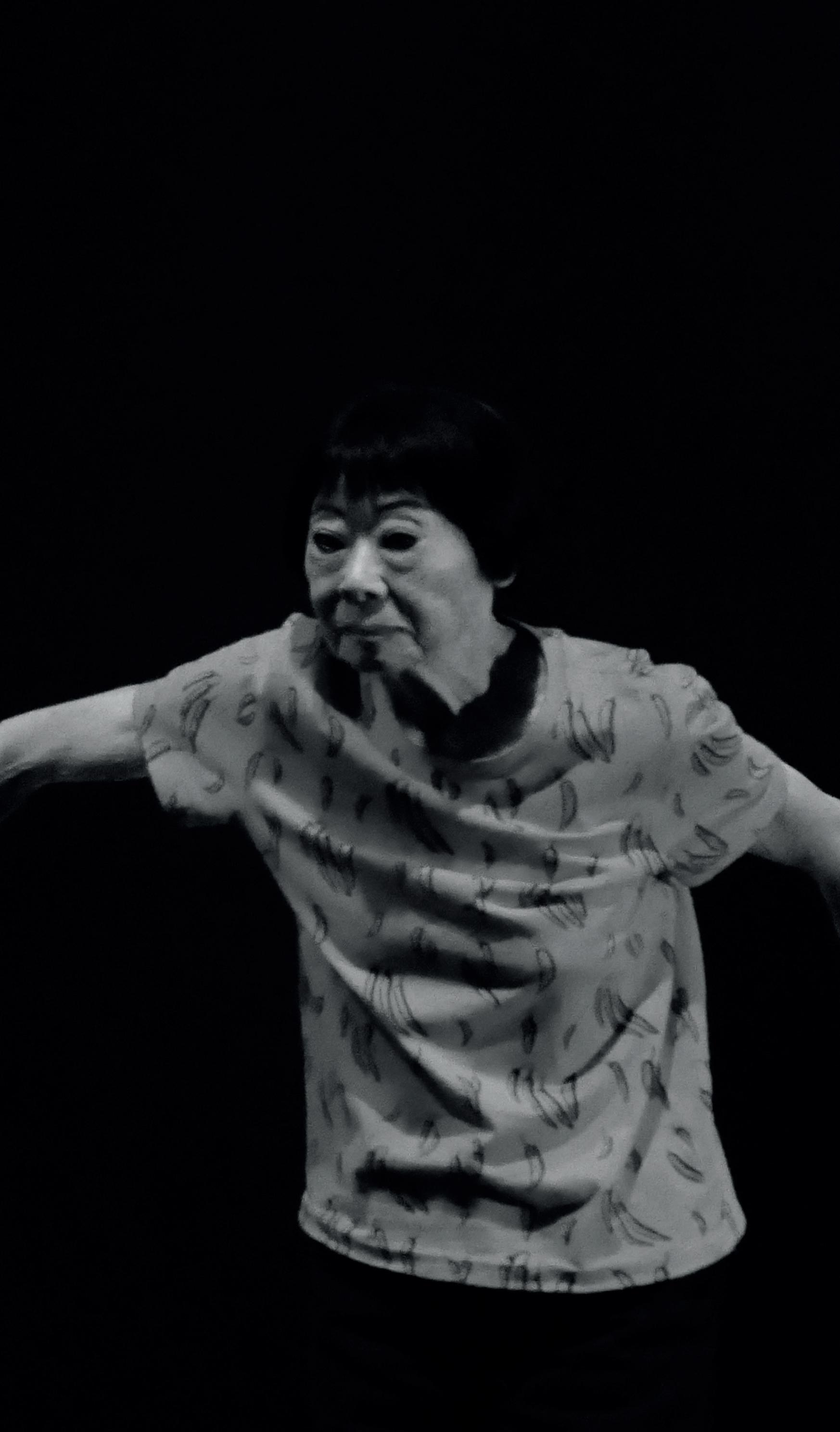

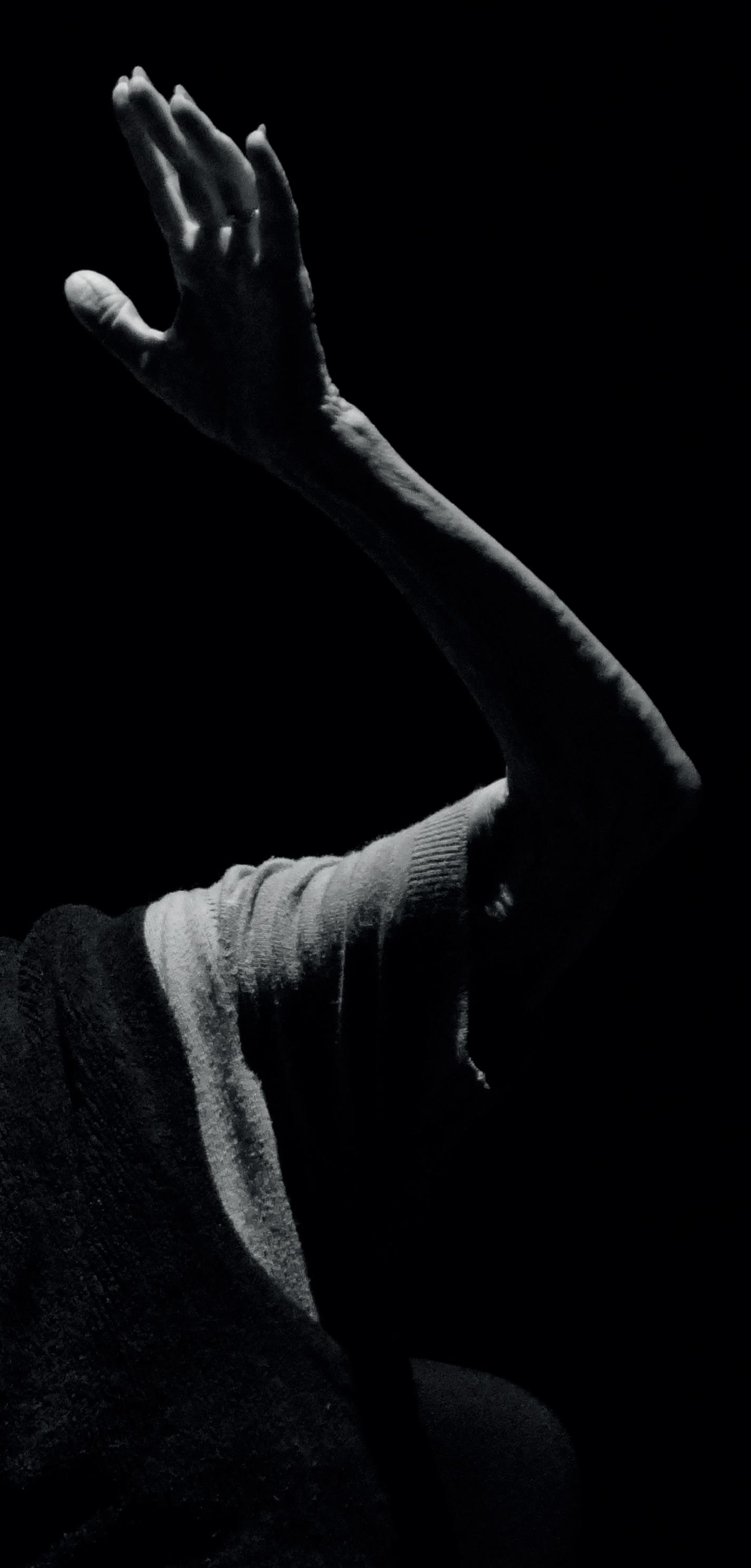

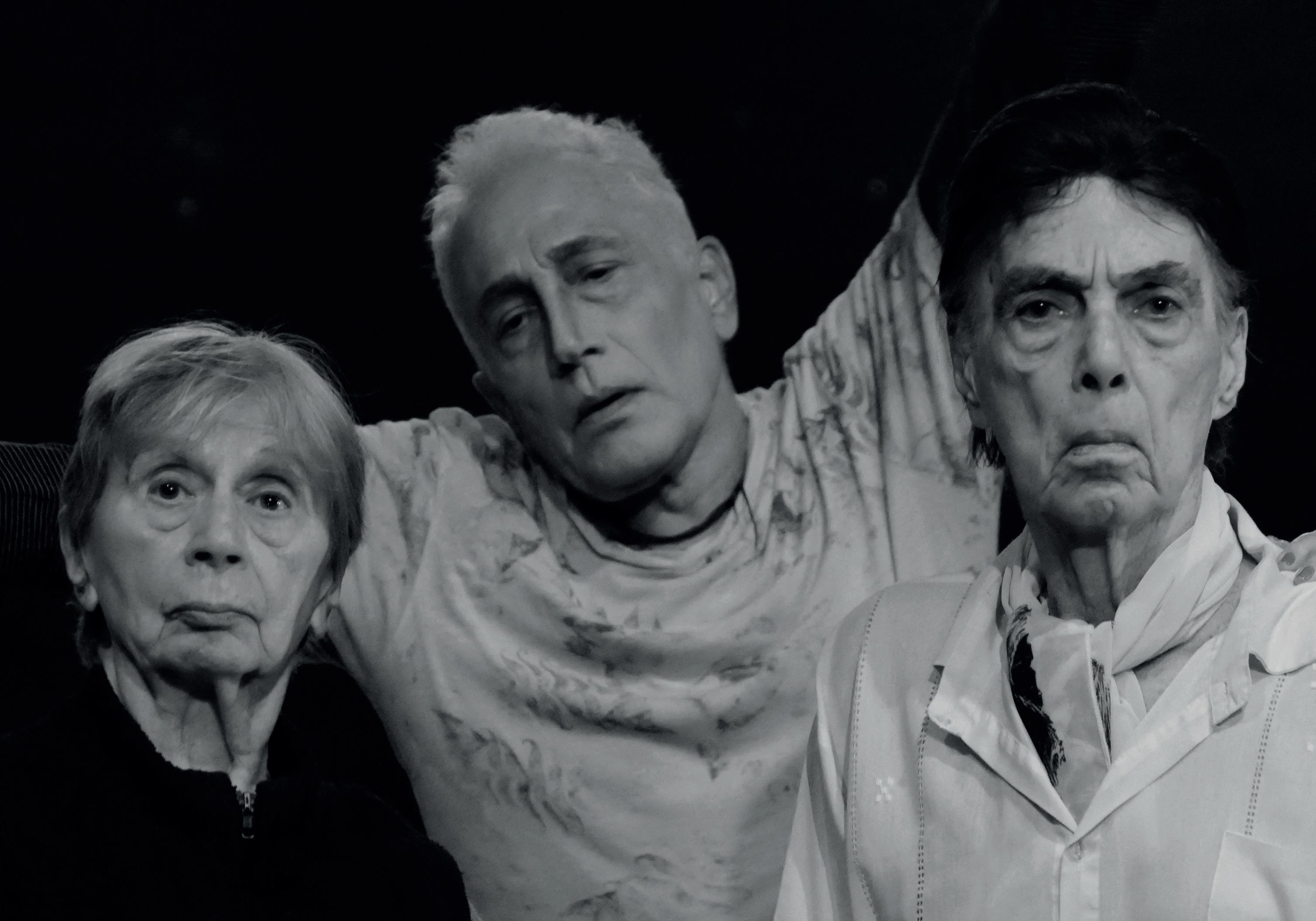


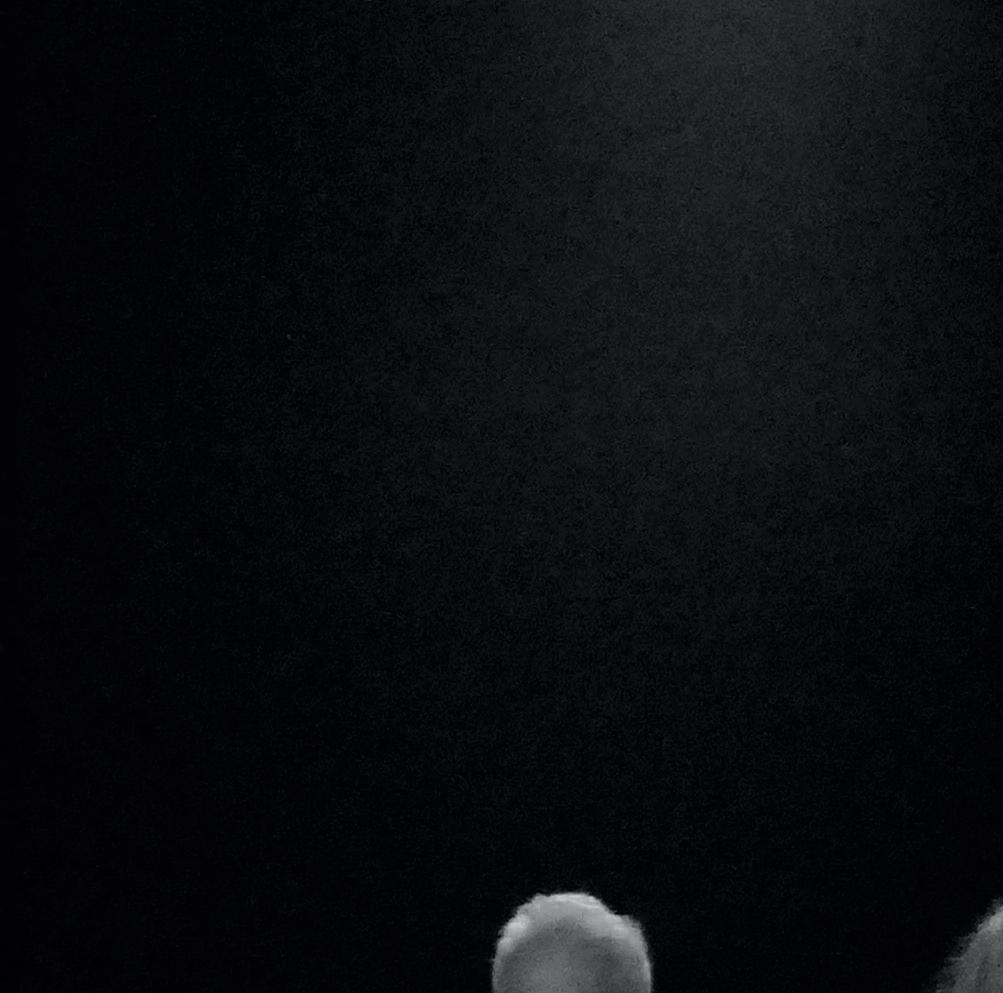


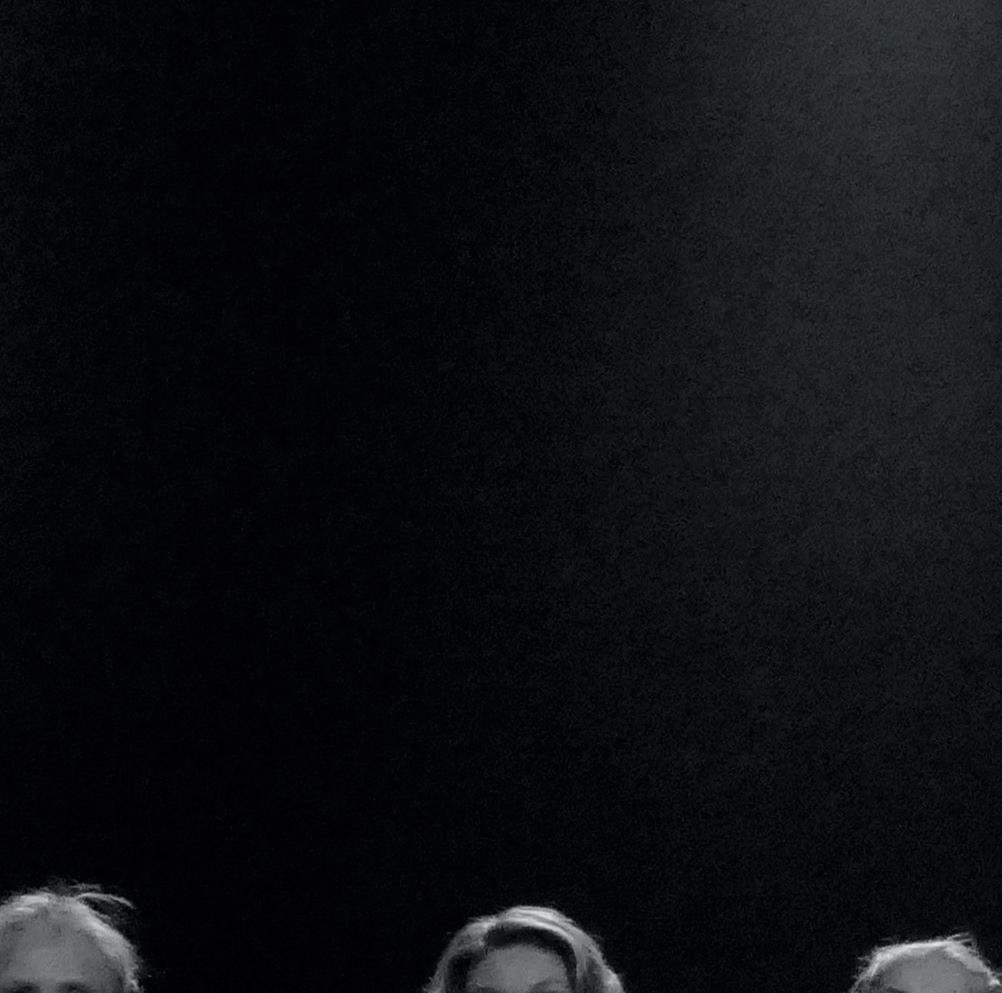




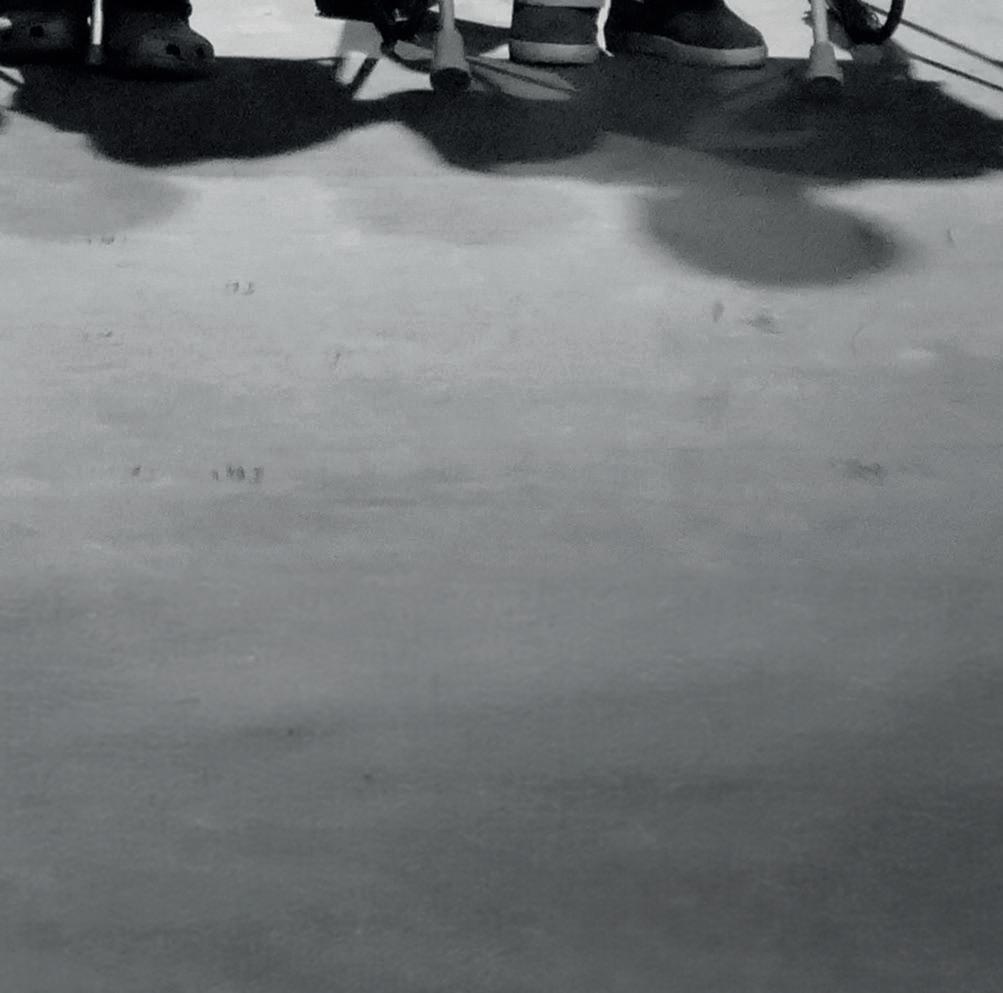


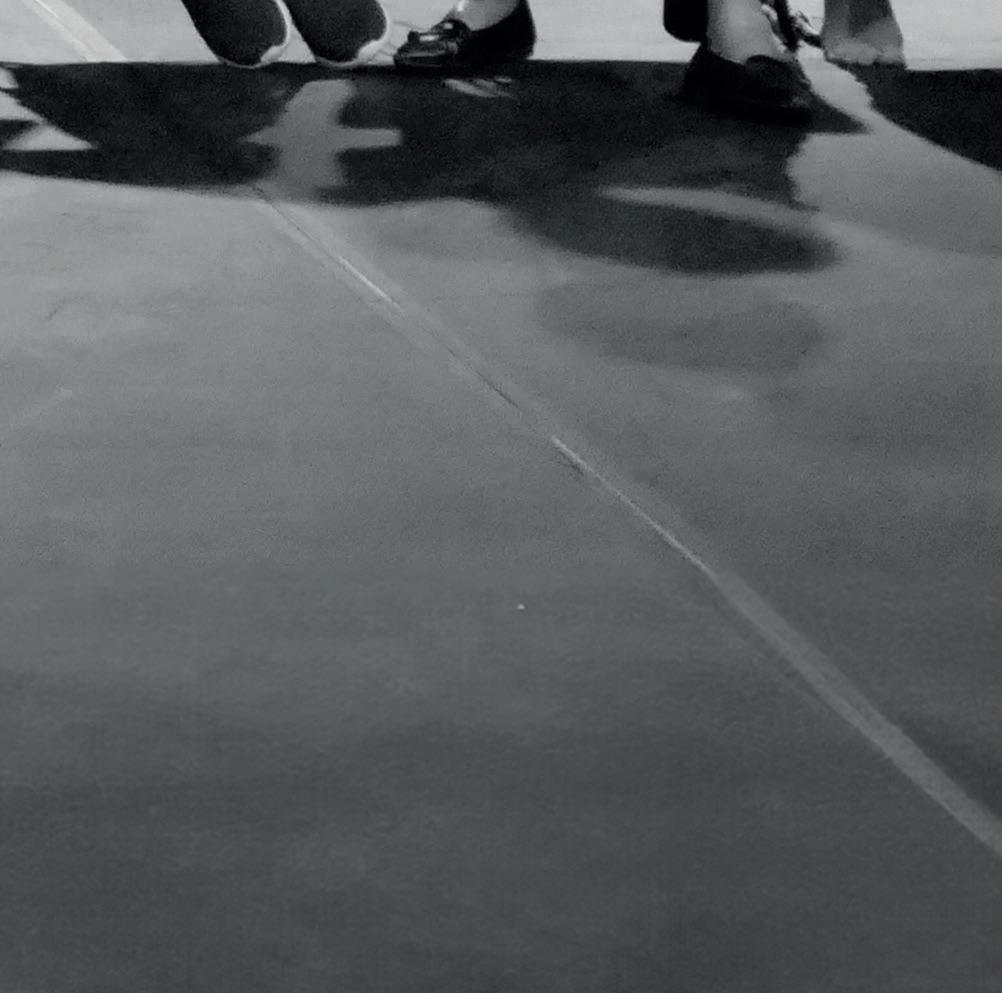



Luis
Arrieta
Coreógrafo, bailarino, professor e pesquisador, iniciou seus estudos de dança em 1972 na Argentina, onde nasceu e estreou como bailarino.
Sua primeira coreografia foi Camila (1977), e desde então produziu mais de uma centena de obras.







O espetáculo Corpos
Velhos – Para que Servem? é uma obra histórica que reúne grandes artistas da dança cênica em São Paulo. O projeto é idealizado e dirigido pelo bailarino e coreógrafo Luis Arrieta. Ao lado de expoentes artistas da dança brasileira – Célia Gouvêa, Décio Otero, Iracity Cardoso, Lumena Macedo, Marika Gidali, Mônica Mion, Neyde Rossi e Yoko Okada –, Arrieta investiga em cena as danças possíveis para esses corpos velhos. O texto apresenta as impressões do diretor sobre a obra.
Durante alguns anos eu procurei apoio financeiro para a preservação do meu acervo pessoal. Tinha VHS, fotografias, reportagens, figurinos..., então, fui investigando. Nunca tive muita neura de nada póstumo. Simplesmente achava uma pena jogar fora. E comecei a pedir o Fomento2 . Pedi um ano, não deu certo, outro ano, não deu. Lembrando que sempre tem uma contrapartida, por exemplo, você dá uma aula-magna ou uma palestra; ou você se apresenta, e eu conseguia me movimentar melhor naquela época, então propus para que eu me apresentasse. E uma vez, conversando com a turma de bailarinos, perguntei se eles topariam uma apresentação.
Toparam, mas também não foi aceito. Demorou uns dois anos para ser aceito, tanto que nesse meio tempo morreram pessoas interessantíssimas do grupo, a Rute Rachou, a Hulda Bittencourt3. Também tinha a Penha de Sousa, que era da dança moderna. Todas estavam entre 75 e 90 anos.
Não dá para ficar esperando muito com essas pessoas. Ah, daqui cinco anos... Daqui cinco anos não tem mais ninguém. É uma realidade. Esse ponto da falta de estabilidade é bastante delicado para a pessoa com idade, a pessoa velha. E tem uma coisa, tem gente que se ofende com a palavra velho, acho uma besteira. Somos velhos mesmo. Sempre com muito orgulho também.
Em novembro de 2022, quando eu estava internado por conta dessa bomba de neuropatia que descobri na pandemia, a produtora do espetáculo me ligou dizendo que o projeto tinha enfim sido aprovado, o Fomento da prefeitura viria e que era urgente responder. Eu disse, gente, dá um tempinho para eu sair do hospital pelo menos. Já que esperamos tanto, não vamos largar isso agora.
1 Transcrição do texto realizada por Rosângela Barbalacco.
2 Apoiar e fomentar artistas, coletivos, grupos, organizações e empresas com viés cultural é uma das missões da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. A política de fomentos existe há mais de 20 anos e parte do apoio a linguagens artísticas, auxiliando na manutenção das mesmas na cidade, e das culturas periféricas, valorizando e situando-as como patrimônios de São Paulo. Fonte: https:// portadeentrada.prefeitura. sp.gov.br/danca/, Acesso em: 12 mai. 2025.
3 Ao longo do texto, Arrieta cita diversos ícones da dança. Conheça suas biografias no box situado no fim do texto [N. E.].
4 O Ballet IV Centenário é o primeiro grupo profissional de dança de São Paulo, criado em 1953, para participar do aniversário de 400 anos da cidade, festejado no ano seguinte, sob gestão do prefeito Jânio Quadros (1917-1992). Uma comissão municipal é criada para organizar as comemorações. A formação de um balé da cidade faz parte do projeto para apresentar tendências internacionais e evidenciar a cultura brasileira. O grupo foi encerrado em dezembro de 1955. Disponível em: http:// enciclopedia.itaucultural. org.br/grupos/80315-balletiv-centenario. Acesso em: 19 de maio de 2025. Verbete da Enciclopédia.
ISBN: 978-85-7979-060-7.
Os recursos eram mínimos, mas não importa, fizemos e pronto. E pelo cuidado do meu acervo pessoal, nossa contrapartida foi apresentar nove acervos vivos no palco. Essa era a ideia.
Começamos a nos encontrar em março de 2023 e, pelo contrato para a contrapartida do Fomento, nós deveríamos fazer dois espetáculos. Para um deles fomos convidados pelo Sesc para fazermos a abertura da Bienal de Dança em Campinas, em 2023. E estreamos em setembro de 2023. Foi ótimo. Aliás, tem sido ótimo, somos todos uma família. Uma grande experiência para todos nós.
Ser velho aqui não é o principal motivo, ser velho é uma consequência do que eles fizeram e continuam fazendo como atividade. E para que servem? Muitos deles, inclusive, estão com muitas dificuldades físicas. O que passa por esses corpos, depois de tantos anos de experiência?
Uma vez, a Neyde Rossi, que gostava muito de reunir as pessoas... ela é muito social e, todo ano, contatava pessoas que eram amigas do Balé do IV Centenário4 e marcava um dia para tomar um chá na sua casa. O marido da Neyde, já falecido, a acompanhava em tudo que ela fazia, um verdadeiro fã, se chamava Henrique Carlos Redorat.
Um desses encontros foi gravado pelo filho da Neyde com uma câmera caseira e o marido me mandou. E nessas situações, a maioria eram mulheres, a maioria não, todas eram mulheres, porque as mulheres matam os homens primeiro. Tem mais viúvas do que viúvos. Então, tinha só mulheres, não eram muitas, não, uma meia dúzia. Senhoras, de tarde, comendo um bolinho, tomando um chazinho.
Durante o encontro, o Henrique colocou a música Passacaglia, de Bach, música da coreografia de Aurélio Milloss, diretor e coreógrafo do balé do IV Centenário, e Neyde começou a esboçar os primeiros port de bras do saudoso trabalho. Automaticamente, a pessoa que estava ao lado da Neide repetiu o gesto e passou para a seguinte. E foi passando de corpo em corpo e, nesse momento, as senhoras bailarinas amigas do Ballet do IV Centenário completaram a roda dançante nesse encontro de chá.
Eu vi, nesse vídeo, que a presença da dança estava viva nessas pessoas que usavam muletas, bengalas... Percebi como não é uma falácia dizer que existe como se fosse um espírito da dança dentro das pessoas. Acham que é viagem da gente, mas não é viagem, é tão claro de ver. Por exemplo, neste novo espetáculo, qualquer movimento do braço tem uma qualidade ímpar, porque os artistas treinaram durante

muito tempo, treinaram no mínimo 50 anos esse mesmo movimento, e o corpo vai assimilando e incorporando o movimento, tornando-o único.
Quando vi o vídeo, fiquei muito encantado com essa imagem. Eu tenho uma tendência a associar acontecimentos. O que me parece interessante, porque sempre trabalhei dessa maneira. Em geral, também quando coreografo, na maioria das vezes sou considerado bastante virginiano mas, ao mesmo tempo, o meu processo de trabalho parece instintivo.
Eu não sei de onde vem, e não quero saber, mas vem.
Quando cheguei ao Brasil, no dia 13 de março de 1974, eu, praticamente no mesmo dia, cheguei na casa da Marilena Ansaldi. Na época ela estava ligada ao Balé Stagium, acho que ela era professora ou coreógrafa, porque não estava mais querendo dançar, no sentido de passos, e estava começando uma fase maravilhosa, aquela da dança-teatro que ela desempenhou de uma maneira tão forte aqui, que foi o grande boom dos anos 1970, 1980.
Ela me conheceu em Buenos Aires porque foi procurar bailarinos. Queria me trazer para o Stagium porque sempre teve carência de homens, sempre tem mais mulheres do que homens, até hoje. Só que atualmente tem muitos rapazes muito bons. Nessa época tinha poucos aqui. Parece que não, mas são 50 anos até hoje, parece pouco tempo, mas mudou muito. A dança mudou tremendamente. Cresceu muito.
E a Marilena foi lá procurar um bailarino com experiência, e me achou, novato. Com experiência ela não achou porque, no teatro argentino, estavam todos contratados. E tinha eu, que como figurante era uma bomba. Fazia pouco tempo que eu tinha começado. Comecei tarde, com 20 anos.
Marilena me fez uma proposta em Buenos Aires e eu decidi vir. Eu cheguei e fui até a casa da Marilena, pegamos o carro e fomos ao Estúdio do Balé Stagium [texto abaixo], na rua Augusta com a Estados Unidos. Estavam, praticamente todas essas pessoas que se reencontraram no espetáculo Corpos Velhos.
A Neyde, a Mônica estava começando no Stagium, a Marika [texto abaixo] e eu. A Ira estava saindo do Stagium, ela tinha se casado com o Antonio Carlos Cardoso e ele estava indo dirigir o Balé Municipal. A Lumena era muito nova, e tinha a Célia, que fazia também algumas aulas na escola do Stagium. Porque o Stagium funcionava assim: de manhã, ensaios, aula e ensaio; à tarde, aulas que davam para alunos de fora,
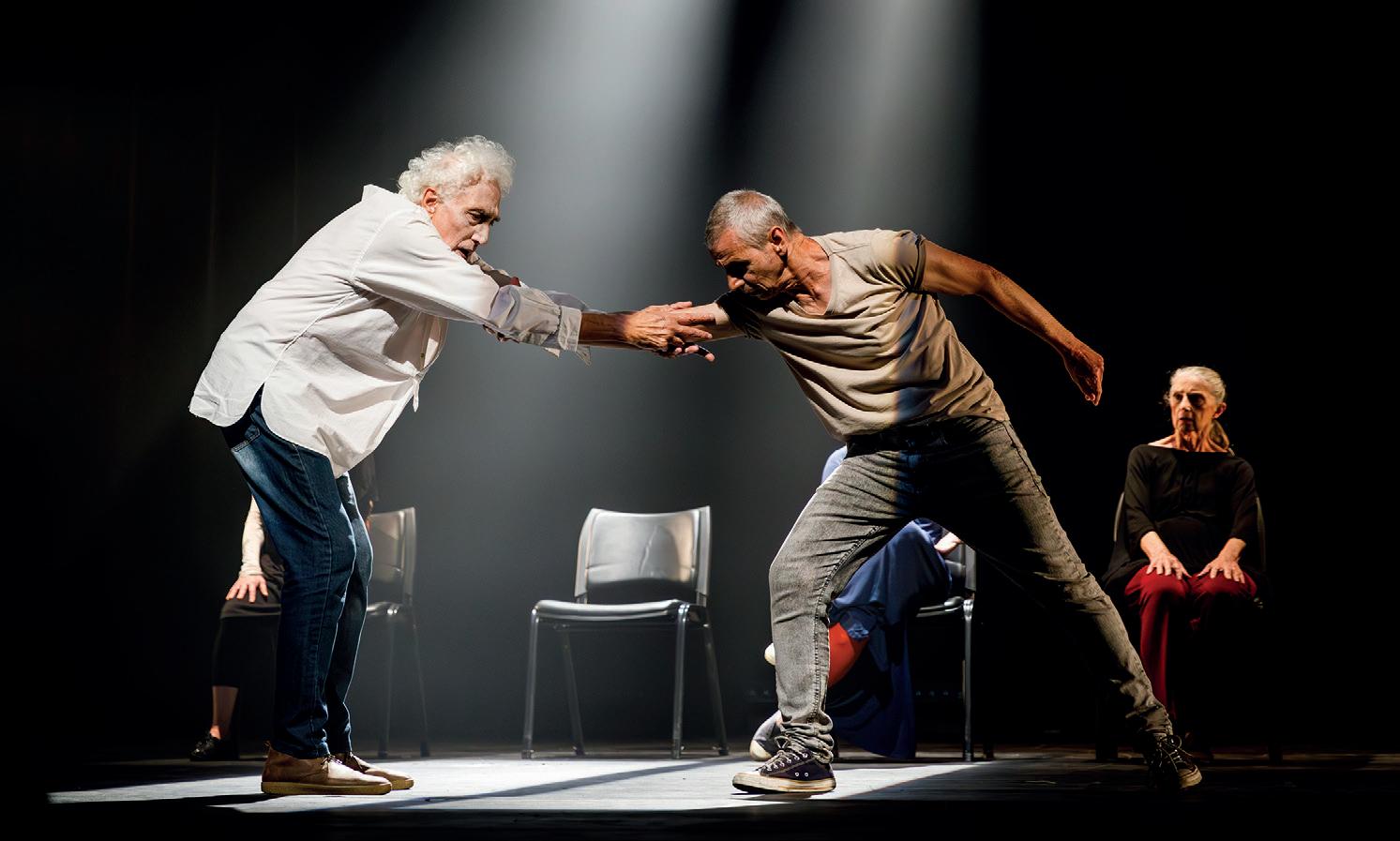
para entrar dinheiro, porque não tinha esses apoios de hoje. E à noite, de novo, ensaio. Na primeira noite, me lembro que estava a Rute Rachou. Ela era bonita. Lembrava um pouco a Vanessa Redgrave.
Eu jamais imaginei que 50 anos depois a gente se encontraria, porque durante todos esses anos a gente se cruzava sempre, mas não trabalhávamos juntos, nos cruzávamos, cumprimentávamos e nada mais.
Acho que tem algo mais do que coincidências. Meu amigo Oscar Araiz, um argentino muito importante no mundo inteiro, foi praticamente o criador do Grupo Corpo. Quando decidiram formar a companhia, chamaram o Araiz para encenar o primeiro balé, que se chamava Maria, Maria! Esse é um balé que ficou famosíssimo com a música do Milton Nascimento. Eu contei para ele a história do grupo de dança que se formou em Corpos Velhos, ele morreu de rir. Ele também veio muito ao Brasil e o Oscar disse “isso não é simplesmente uma história, é uma parábola, e é muito interessante”.
Quando começamos a ensaiar, começamos uma vez por semana, pelo menos. Porque dependia de muita coisa: se todos estavam bem no dia do ensaio.
Para mim, é uma coisa tão maravilhosa, que não imaginei que poderia ter esse caráter. É importante não esquecer que viemos da dança. A dança é um lugar que você chega todo dia em uma sala com um espelho imenso e fica se olhando no espelho, cuidando para que nada no corpo esteja fora do lugar. Pelo menos era assim que se fazia na época em que eu dançava. Hoje, temos uma história aí de que não precisa se cuidar, mas é outro conceito. Digamos que para nós, naquela época, não era uma questão de estética, mas uma questão de peso. Se você tem mais peso você pode se machucar.
Nunca imaginei que com o passar dos anos eu teria tanta dificuldade para me locomover. Não estava nos meus planos. Eu sabia que ficaria velho, sabia que ia dançar cada vez menos, faria muito mais o papel de preparador do que dançarino, sabia que coreografaria bastante tempo ainda, porque você vai desenvolvendo com o passar dos anos a maneira de se comunicar, mexendo menos o corpo. Se você é jovem, você não precisa, quando se é jovem, você tem mais energia no corpo, é mais fácil mostrar o que quer do bailarino.
Quando somos jovens, nós não temos a memória de um corpo anterior. Pode ser que inconscientemente, sim, mas não percebi.
Graças ao encontro com as pessoas do grupo apareceu esse tempo de velhice, apareceu como sendo esse lugar maravilhoso.
Jamais eu pensaria que poderia dizer que ser velho, com muleta, com dor, é ótimo. Então, esse encontro no Corpos Velhos me traz tudo isso e penso que deve ter trazido para todos os integrantes.

Pode ser que o espiritismo tenha alguma coisa assim, que me faça constatar uma existência, não sei, mas, aparentemente, eu não tenho muita referência anterior. Com o passar do tempo, chega uma idade em que percebemos que o corpo não é o mesmo. E quando chega essa idade, que chamamos de velhice, ela vem com muitas coisas. No meu caso com artrose, com neuropatia, é terrivelmente dolorido. Eu tenho dores há quatro anos, dia e noite sem parar. Tomo umas bombas e não adianta nada. Mas, me ocorre agora que eu preciso conhecer o estado em que estou para poder viver o movimento desse estado. Eu não posso negá-lo. Se estou no estado que estou hoje, o velho que sou hoje, poderei conhecer o que esse velho poderá fazer hoje. Não posso, enquanto me mexo, ter dentro de mim a imagem de quando eu era jovem fazendo esse movimento.
Eu não posso viver aquele que foi jovem e fazer um movimento dessa maneira, que naquela época era belo ao fazer, tenho o que me serve hoje, preciso continuar em frente, não posso agora viver o passado desse corpo. Eu preciso aceitar a minha velhice para estar bem. E a partir daí fazer outras coisas.
Por isso que às vezes eu penso em falar para as pessoas velhas que estão fazendo plásticas, academia e outras coisas que elas não vão voltar a ser jovens.
Não, não vão voltar, senão você não vive essa etapa da sua vida. Você vai sair desse mundo sem pegar esse lugar.
Graças ao encontro com as pessoas do grupo apareceu esse tempo de velhice, apareceu como sendo esse lugar maravilhoso. Jamais eu pensaria que poderia dizer que ser velho, com muleta, com dor, é ótimo.

Então, esse encontro no Corpos Velhos me traz tudo isso e penso que deve ter trazido para todos os integrantes.
No início, uma das bailarinas me contou que “nos primeiros ensaios eu pensei que não queria ir mais”, porque ela ainda caminha, com dificuldade, mas ela disse que quando viu tanta muleta, tanta bengala e tudo, pensou “eu não quero ficar assim”. Todos nós nos conhecemos e nos amamos muito como amigos artísticos. Acho que não tem ninguém amiguinho, amiguinho. Temos um grande respeito porque todos já foram bailarinos, diretores, coreógrafos e diretores de companhias.
Eu sei que algumas pessoas ficam chocadas com o espetáculo, mas eu adoro. Sobretudo o vídeo inicial, que é lindíssimo. Não sei se o que é mais fantasmagórico, o vídeo ou o espetáculo.
Muito dramático. Acho que o que toca as pessoas na plateia é que muitos deles foram alunos dessas pessoas que estão no palco. Acredito que o que toca também o público é a relação que temos entre nós, porque ela foi construída sobre uma verdadeira percepção de nós, velhos, com todos os legados que cada um traz para dentro, e cada um tem um legado diferente.
Ninguém arreda pé, tenho certeza. Por exemplo, uma vez, tínhamos dois espetáculos. Nós não temos muitos espetáculos por mês, mas nesse mês coincidia termos dois juntos em Santo Amaro, no teatro Paulo Eiró. O que aconteceu? A Neyde estava com dengue. Ela com febre e as outras ajudaram a maquiá-la. São três sinais para começar, e quando dá o segundo sinal, e quando dá o terceiro, ainda tem meia hora de vídeo, mas quando dá o segundo sinal, estamos todos sentados e concentrados.
Eu não posso viver aquele que foi jovem e fazer um movimento dessa maneira, que naquela época era belo ao fazer, tenho o que me serve hoje, preciso continuar em frente, não posso agora viver o passado desse corpo.
Eu preciso aceitar a minha velhice para estar bem. E a partir daí fazer outras coisas.
E a Neide, nessa ocasião, fez o espetáculo mesmo doente. Isso vem de uma história dessas pessoas, ninguém trabalhou 50 anos de outra maneira que não fosse assim. Pode ser careta, mas isso permite que eles consigam transmitir até hoje esse comprometimento.
Eu acho uma maravilha esse encontro. Quando passamos um mês, um mês e pouco sem fazer o espetáculo, a gente se junta uns dias antes para lembrar, porque tem todo um roteiro, tem tudo marcado. Sou virginiano, tenho tudo marcado. E esse roteiro foi construído em cima do que fomos vivendo em nossos encontros. O roteiro segue exatamente o que foi feito em nossos encontros. Ele mostra nossa postura de início. Ele nos mostra, por exemplo, como ícones, que é terrível mas, aliás, se você não tem ego você não sobe no palco. Aquilo que te faz segurar no palco é o ego atrás, que diz que você é ótimo.
O ego é importantíssimo, sem ele não tem como. Não tem como pretender que uma pessoa suba num palco com um ego amaciado, não tem. O amaciado fica em casa, não tem necessidade de estar lá. E nesse início foi isso que nós mostramos. Essa distância, que aos poucos começa a se mostrar em algum movimento, como se dentro de nós estivesse engaiolado o espírito da dança, que se manifestava dentro.
Foi mais ou menos vendo o que as pessoas falavam nos ensaios, entre brincadeiras, conversas, que desenvolvi o espetáculo.
Outra coisa maravilhosa dessa experiência é o profissionalismo. A partir do momento que eu ia dirigir, e sou possivelmente um dos mais novos, a disposição é assim: você vai colocar algo para fazer e nós vamos entrar com aquilo que você está propondo. É uma postura, é uma entrega total.
Um dia alguém disse, numa cadeira: a gente uma hora podia dar a mão. Pronto, já criei uma coisa para chegar nesse ponto de dar a mão.
Marika sempre dançou com Décio. Então, ela, meio brincando disse: você podia fazer um pas de deux para a gente. Fizemos. Com ele sentado, mas igual em essência ao que eles dançavam quando eram jovens.
Nunca imaginei que isso poderia ser tão bom. Mas não é um bom de besta, de bobão, que estou falando. Dói a perna. Você não consegue andar. Você tem dor dia e noite. Mas é a realidade. Eu acho que não podemos perder nenhuma etapa da vida. Outro dia fiquei pensando, nossa, a juventude, a adolescência, por que se suicidam tanto? Deve existir alguma dor. Possivelmente, ela não é representada psicologicamente, mas ela existe.
A dor foi uma experiência na vida, mas foi com o passar da vida e o cair da energia que a dor foi ficando exposta. Não sei como vai ser quando eu for embora, se vai doer mais, se vou aguentar mais, não importa. Até agora está ótimo. E tem me dado muito prazer e muita vontade de falar para as pessoas velhas que aceitem ser velhas e, depois, façam as coisas que querem fazer, tipo plástica, percing, ginástica, hidro, lipo e todas essas coisas. Pode fazer tudo isso, mas aceite-se primeiro, porque deve ser muito bom você ficar todo bonito, mas sabendo quem você é. E não uma fantasia do que você não é.
Essas dores que nós temos, elas nos acompanham sempre, em cada etapa. Tem mais, eu tenho uma sensação, uma suspeita, uma suspeita maior que a melhor parte é a passagem para ir. E tomara que seja consciente quando aconteça, porque da primeira passagem não me lembro. Pode ser também que não me lembre da próxima, mas me parece que seja uma etapa muito importante, que não podemos jogar fora.
Penso assim, comecei tarde e precisei forçar meu corpo. Eu não tinha feito nenhum tipo de esporte, não tinha o corpo preparado atleticamente. Então, eu tinha começado a dançar e tinha que falar que esse corpo tinha ficado up today para começar a viagem.


Agora tenho esse corpo, que me custa muito para caminhar. Para levantar da cadeira preciso de um tempo para me equilibrar, porque a neuropatia tirou todos os terminais nervosos, então, não tenho quase equilíbrio. Tem o mínimo, sabe. Já fiz mil estudos. É assim e pronto.
Então, penso assim, não vou largar esse corpo que me acompanha todo esse tempo e deixá-lo aqui deitado. Eu vou dançar com ele. Vou levá-lo para o palco para dançar. Não tenho vergonha.
Tem muitas pessoas importantes que antes falavam para mim que era essencial manter minha imagem, meu legado. Mas eu não tenho nome, não tenho legado, não tenho honra de nada. Meu corpo quer dançar? É o que eu vou fazer até o último momento – que ele dance. Eu não vou sacanear ele. Ele me acompanhou todo esse tempo. Eu preciso estar ao lado dele.
Assim como eu pedi para ele: “Se liga, que eu preciso fazer isso”, ele, agora, me diz assim: “Se liga, não me
deixe cair!”. Então, essa é a experiência que eu tenho da velhice, por isso me encontro com essas pessoas. Acredito que, com este texto, o público pode também entender um pouco mais o que é o espetáculo, além do que ele está vendo. É a minha versão. Mas tem mais oito artistas de primeiríssima linha, e cada um tem a sua. Eu sou mais falante, mas acho que cada um deles contaria também uma experiência maravilhosa.
Essas são as pessoas, me desculpem a falta de modéstia, porque também me incluí aí, são as pessoas que fizeram a dança em São Paulo, essas e aquelas outras que acabaram morrendo antes do espetáculo.
O público tem uma reação sempre maravilhosa. Tem também uma grande parte que se emociona porque nos conhece. Tem uma coisa interessante, quando o público quer conversar com a gente, após o espetáculo, o Sesc teve a gentileza de liberar a entrada dele no palco. Não se costuma fazer isso, eu sei que é uma dor de cabeça o que eles estão fazendo, mas assim conseguimos atender ao público. Porque se as pessoas fossem falar com a gente só quando a gente se troca e vai embora, isso só terminaria no dia seguinte. Tanto que quando terminamos o espetáculo, agradecemos e vamos para o carro, porque o corpo não aguenta.
Mas ninguém se queixa. Eu acho uma maravilha. Não é brigar por nada, é entender que isso é assim.
A foto do espetáculo onde estamos todos enfileirados é como uma imagem da resistência. Nessa parte toca uma música de Mercedes Sosa, que fala dos 500 anos que fomos subjugados pelos espanhóis, tanto que ela diz “corpos que não estão mais aqui, mas que já estiveram”. No final, na última nota, nós fazemos um passo, que é da coreografia mais marcante do Décio, que eu acho que é uma marca da coreografia em São Paulo, do Kuarup5 E acabamos dançando, batendo, assim: um povo que não recua. Nós todos fazemos esse passo. Pedi licença ao Décio para usar o passo e ele disse: “Vamos fazer!”. É como se falássemos entre reis. E lembro que ainda falei: “Décio, você gostaria de mostrar como é para nós?”. E ele pegou a bengala e fez.
Eu sei que tem gente que diz: “Ah, não precisa mostrar a pessoa velha assim”. Lembro de uma atriz inglesa, uma mulher bonita, só que velha. Perguntaram para ela se nunca pensou em dar “uma puxada”, e ela falou: “Tá louco, foi com essa ruga que comecei tudo isso. Isso é minha experiência”.
5 Em julho de 1977, o espetáculo de balé Kuarup, ou a Questão do Índio fez sucesso de público e crítica no sisudo Theatro Municipal de São Paulo. A apresentação do Stagium, uma companhia fundada havia apenas seis anos, aconteceu em um cenário singular e adverso. A ditadura militar praticava censura sobre quaisquer manifestações artísticas que destoassem da exaltação aos feitos do regime. A criação do Stagium não só ousava embalar os movimentos de seus bailarinos com a denúncia da violência sobre os povos indígenas pós-1.500, mas ainda fazia sucesso com uma concepção artística que colocava no centro do palco a temática brasileira, com música e coreografia também nacionais. Fonte: https://fpabramo.org.br/ focusbrasil/2023/07/24/ kuarup-o-bale-quedesafiou-a-ditadura/. Acesso em: 14 mai. 2025.
Abrimos o Festival de Dança de Fortaleza. Fizemos uma temporada. Foi maravilhoso. Temos uma equipe ótima. Mas, para andar aquelas distâncias enormes nos aeroportos, precisamos de cadeiras de roda, bengalas.
Se for do taxi até o guichê, tudo bem, mas com mala já não aguento. Daí estávamos alguns de cadeira de rodas, uma empurrava a cadeira para se apoiar, como se fosse um andador. Então, depois que todo mundo fez o check in fomos para o embarque e tinha uma moça da companhia aérea junto. Ela olhava as malas, as cadeiras de roda, as bengalas, todo aquele negócio. Então, ela falou pra mim: “Vocês vão para Fortaleza?”. Eu disse que sim e ela: “Ah, que pena! Está chovendo lá. Não vai dar para aproveitar a praia”. Eu disse: “Não, a gente não vai para aproveitar a praia”. Ela: “Ah, vão fazer tratamento?”. E eu disse: “Não, não, não, vamos trabalhar”. Como ela não continuou a conversa, eu disse: “Isso aqui é uma cia. de dança”. Ela não respondeu, só falou: “Ah, tá, tá, já estamos chegando”. Ela pensou que eu estava delirando. Mas não é engraçada a história?
Ninguém pensa que aquele bando de muletas é uma cia. de dança. A não ser como uma piada. A gente acha engraçado. Engraçado, não. Normal. Sabe o que eu acho que aprendemos com esses encontros? A ceder. Não é que a gente faz ironia, não. Sabe o que a gente aprendeu? Numa entrevista, me perguntaram qual era a arma que tínhamos para lutar contra o etarismo. Eu disse que, primeiro, não pegaríamos em armas, que, possivelmente, o que chamaríamos de arma seria a aceitação. Confiávamos uns nos outros e nos aceitávamos. Mas não é bonito. É a verdade.
A maioria dos espetáculos que fazemos são em unidades do Sesc São Paulo. Quando recebemos o prêmio oficial, o APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte) em 2023 na categoria Projeto/ Programa/Difusão/ Memória, o Luiz Galina, diretor regional do Sesc São Paulo, mandou uma carta nos parabenizando pelo espetáculo, que tinha estreado no Sesc Campinas em 2023.
Antonio Carlos Cardoso (Porto Alegre, RS, 1939). Diretor artístico, coreógrafo, bailarino e fotógrafo. Começa no teatro em 1957, com Carlos Murtinho, em Porto Alegre. Um ano depois, tem aulas de dança clássica com Tony Petzhold (1914-2000) e Marina Fedossejeva, com quem estuda durante três anos. Foi diretor do ex-Corpo de Baile Municipal, atual Balé da Cidade de São Paulo (BCSP). Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira. São Paulo: Itaú Cultural, 2025. Disponível em: http:// enciclopedia.itaucultural.org. br/pessoas/9085-antoniocarlos-cardoso. Acesso em: 13 de maio de 2025. Verbete da Enciclopédia.
Célia Gouvêa (São Paulo, Campinas, 1949). Foi cofundadora do Grupo CHANDRA (Teatro de Pesquisa de Bruxelas). Em 1974, iniciou no Teatro de Dança Galpão, em parceria com Maurice Vaneau, um movimento renovador da dança. Criou 60 coreografias. Fonte: https://spcd.com. br/verbete/celia-gouvea/. Acesso em 13 mai. 2025.
Hulda Bittencourt (São Paulo, Santa Cruz do Rio Pardo, 1934 – São Paulo, SP, 2021). Celebrada bailarina, empresária e fundadora do Estúdio Cisne Negro e da renomada Cisne Negro Cia. de Dança. Fonte: https://cisnenegro.com. br/ocupacao-hulda-bittencourt/. Acesso em: 12 mai. 2025.
Iracity Cardoso (São Paulo, SP, 1945). Como bailarina e diretora estabeleceu sua carreira entre o Brasil e a Europa. Atuou no Corpo de Baile do Teatro Municipal de São Paulo. Foi assessora e curadora de dança na Secretaria Municipal de Cultura, criando o Centro de Dança da Galeria Olido. Fonte: https://www. dancaempauta.com.br/ espetaculo-corpos-velhosreune-geracao-pioneirada-danca-cenica-paulista/. Acesso em: 13 mai. 2025.
Lumena Macedo. Como bailarina ingressou em 1983 na Cia. Cisne Negro e em seguida no Balé da Cidade de São Paulo e Cia. 2 do Balé da Cidade, onde encerrou sua carreira como bailarina profissional e passou a atuar como assistente de direção de diversos coreógrafos. Fonte: https://www. dancaempauta.com.br/ espetaculo-corpos-velhosreune-geracao-pioneirada-danca-cenica-paulista/. Acesso em: 13 mai. 2025.
Maria Helena Ansaldi (São Paulo, SP, 1934 – idem, 2021). Atriz e coreógrafa. Pioneira na criação de espetáculos que unem dança, teatro e recursos multimídia, a intérprete-criadora é precursora da dança-teatro no Brasil. Filha do barítono italiano Paulo Ansaldi e da corista Maria Nazareth. Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira. São Paulo: Enciclopédia Itaú Cultural, 2025. Disponível em: http:// enciclopedia.itaucultural. org.br/pessoas/14376marilena-ansaldi. Acesso em: 19 de maio de 2025. Verbete da Enciclopédia.
Mônica Mion (São Paulo, SP, 1954). Como bailarina participou do Ballet Stagium e do Balé da Cidade de São Paulo, no qual fez carreira de mais de 30 anos em diferentes funções, como assistente de coreografia, ensaiadora e diretora.
Fonte: https://www. dancaempauta.com.br/ espetaculo-corpos-velhosreune-geracao-pioneirada-danca-cenica-paulista/. Acesso em: 12 mai. 2025.
Neyde Celeste Rossi (São Paulo, SP, 1938). É bailarina e mestra de balé. Aprendeu os primeiros passos com Maria Saltenis e Maria Olenewa e, aos 14 anos, iniciou sua carreira profissional como estagiária no emblemático Ballet do IV Centenário. Dançou também em importantes companhias, como o Ballet do Theatro Municipal e o Ballet do Teatro. Fonte: https://spcd.com. br/verbete/neyde-rossi/. Acesso em: 12 mai. 2025.
Oscar Araiz (Argentina, Punta Alta, 1940). Criou a sua primeira obra para o Ballet del Colón aos 25 anos, fundou o Ballet Contemporáneo del San Martín, dirigiu o Ballet del Gran Teatro de Genebra durante uma década, criou coreografias para inúmeras companhias do mundo inteiro e teve como parceiro Milton Nascimento, que compôs para uma de suas obras. É considerado um dos criadores da dança contemporânea na Argentina. Fonte: https://proximofuturo. gulbenkian.pt/blog/oscararaiz-coreografo-argentinosobre-percurso-e-obra; https://museomoderno. org/mapadelarte/artistas/ araiz-oscar/; e http:// www.avantialui.com.ar/ biografias_texto.php?id=8. Acesso em: 12 mai. 2025.
Penha de Souza (Rio de Janeiro, RJ, 1935 – São Paulo, SP, 2020). Coreógrafa, bailarina, diretora, professora de dança moderna. Trabalhou e contribuiu para o reconhecimento da dança como profissão no Brasil, foi membro-fundador da Associação Paulista de Profissionais da Dança (APPD), atual Sindicato dos Profissionais da Dança do Estado de São Paulo (Sinddança). Fonte: https://portalmud.com. br/portal/museu-da-danca/notade-falecimento-penha-de-souza. Acesso em: 12 mai. 2025.
Ruth Rachou (Ruth Margarido da Silva, São Paulo, SP, 1927 – idem, 2022). Professora, bailarina e coreógrafa, expoente da dança moderna em São Paulo, reconhecida pelo trabalho a partir da técnica da dançarina estadunidense Martha Graham (18941991) e pela formação de gerações de bailarinos. Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira. São Paulo: Itaú Cultural, 2025. Disponível em: http:// enciclopedia.itaucultural.org. br/pessoas/9119-ruth-rachou. Acesso em: 12 de maio de 2025. Verbete da Enciclopédia.
Oswaldo Mendes Jornalista, dramaturgo e escritor.
São 54 anos com pés no presente, olhos no futuro e um passado único. São 54 anos dançando o Brasil, a sua gente, o seu tempo. Dançando a violência do Holocausto, a luta dos mineiros do Chile e o garimpo de ouro em Serra Pelada e na Floresta Amazônica. Dançando o tango de Astor Piazzolla, a resistência dos índios brasileiros em Kuarup e a ruptura artística e nacionalista dos modernistas de 1922.
Dançando o futebol, a América Latina, coisas do Brasil e Dona Maria 1ª, a Rainha Louca, e a resistência dos escravos nos quilombos. Dançando a música brasileira. A popular de Chico Buarque a Elis Regina, de Dorival Caymmi a Carmen Miranda, de Adoniran Barbosa e Quinteto Violado a Ary Barroso, de Milton Nascimento a Egberto Gismonti e Geraldo Vandré. E a erudita contemporânea de Villa-Lobos, Cláudio Santoro, Almeida Prado e Ayrton Escobar.
Dançando a literatura em A Infanticida Marie Farrar, de Bertolt Brecht; em Diadorim, de Guimarães Rosa;
em Os Estatutos do Homem, do poeta Thiago de Mello; e o teatro em Navalha na Carne, de Plínio Marcos. São 54 anos dançando em qualquer espaço. No Brasil, nas Américas, na Europa, na China. No meio da revolução sandinista na Nicarágua ou nas ruínas de Áquila na Itália. Nas favelas do Rio de Janeiro e em uma barca navegando pelo Rio São Francisco, proposta pioneira de Paschoal Carlos Magno. Em escola de samba no Carnaval, em presídios, no parque indígena do Xingu, em escolas públicas ou históricos palcos. Sem preconceito. Sem fronteira. Sem intolerância estética, política ou ideológica.
Outubro de 1971. O Brasil vivia o momento mais agudo da ditadura militar instalada em 1964. A tesoura da censura agia sobre a imprensa e, em especial, sobre o teatro e a música popular. Marika e Décio tinham necessidade de romper amarras e limites para alcançar um público além daqueles habituais consumidores de dança. No diretor de teatro Ademar Guerra, o Stagium encontrou o ponto de referência artístico e intelectual para desenvolver a sua dança. Isso os levou ao encontro de novas plateias, estabelecendo uma troca que consolidou o tripé das indagações a orientar o trabalho da companhia:
o que dançar? Para quem dançar? E como dançar? Sem abandonar o rigor da técnica, os bailarinos se impunham, ao lado do seu fazer artístico, serem cidadãos comprometidos com o seu país e o seu tempo.
Como testemunha de sua história, escolho a coragem e a perseverança como os atributos que caracterizam a companhia que vi nascer. Coragem de dançar o Brasil. Coragem de colocar a arte brasileira, sem folclore, em cena. Coragem de enfrentar os períodos mais obscuros da história política do Brasil. Coragem de romper padrões. Coragem de quebrar preconceitos e levar a dança para todas as plateias.
Perseverança para encarar dificuldades, que não são poucas, sem esmorecer. Perseverança para resistir a todas as tentações do glamour que poderiam desviar o Stagium do seu caminho. Coragem e perseverança para desafiar os riscos de ser artista, comprometido com o seu tempo e com os homens do seu tempo, sem ceder à vaidade tola e ao brilho passageiro. Por tudo isso, a dança no Brasil tem nome: Stagium. E hoje, em seus 54 anos, a companhia persevera na coragem de Marika Gidali e Décio Otero.
Como testemunha de sua história, escolho a coragem e a perseverança como os atributos que caracterizam a companhia que vi nascer. Coragem de dançar o Brasil. Coragem de colocar a arte brasileira, sem folclore, em cena. Coragem de enfrentar os períodos mais obscuros da história política do Brasil. Coragem de romper padrões.
Coragem de quebrar preconceitos e levar a dança para todas as plateias.
Marika Gidali
Nasceu em Budapeste, Hungria. No Brasil, iniciou seus estudos de dança em São Paulo, com o professor Serge Murchatovsky, na escola de Carmem Brandão. Fundadora, junto com Décio Otero, do Ballet Stagium. Bailarina, coreógrafa, professora, diretora artística, seu trabalho é considerado de vital importância para o desenvolvimento da dança e da educação no Brasil. Atuou como bailarina no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Ballet do Teatro Cultura Artística e Ballet do IV Centenário. É detentora de inúmeros prêmios por sua atuação como bailarina e educadora.
Há alguns anos me pediram para falar sobre a minha idade. Fiquei meio atrapalhada, mas lembro que escrevi algo. Hoje me pergunto por que fiquei meio perdida, hoje já até sei responder.
Quando parei de dançar, nem me lembro que idade tinha, parei porque meu corpo como sempre conversou comigo: “Marika, vamos dar um outro passo”. Passei a analisar tudo que tinha realizado e quais seriam os próximos passos, pois o futuro é agora. A sala de aula e o palco são a minha igreja, onde vivencio a minha fé, a minha esperança, a minha força e a razão de estar aqui. Como poderia contabilizar tudo isso em um número? Diminuiria a razão de ser, vamos e venhamos, nada a ver.

O que importa é viver cada momento plenamente. Eu continuo criando por meio dos corpos e cabeças dos meus bailarinos. Alguns bem jovens e outros menos, mas são instigantes. Eu, como sempre, passando minhas experiências e vivências através da dança, e a coisa mais linda é vê-los criando e acrescentando coisas fantásticas que me mantém alerta, procurando entendê-los. Analisando estas experiências diria que estou viva. Viver e uma grande experiência que o tempo ensina. Cada momento é um momento, que nunca mais vai voltar. Sabendo disso, não se perde nada em ser jovem ou não. O resto é gratidão!!!
Décio Otero
Nasceu na cidade de Ubá, Zona da Mata, em Minas Gerais. Iniciou seus estudos de dança com Carlos Leite, no Ballet de Minas Gerais. Foi 1º bailarino do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, trabalhando ao lado de importantes nomes da dança como Tatiana Leskova, Eugênia Feodorova, Dalal Aschar, Margot Fonteyn. No Ballet Stagium coordena e dirige, com Marika Gidali, além do elenco profissional, importantes trabalhos na área social e de educação, como o Projeto Joaninha, Professor Criativo, Stagium Vai às Escolas, Escolas Vão ao Teatro, entre outros. É detentor de inúmeros prêmios por seus trabalhos como bailarino, coreógrafo e por relevantes serviços prestados à sociedade através de seus trabalhos de dança como ação social.
O ano de 2024 foi iluminado para o Ballet Stagium, além das muitas apresentações pelo Brasil, eu e Marika fomos contemplados com o título de Mestres da Dança, promovido por Maria Pia e com reconhecimento do governo federal. Também em 2024, o Stagium foi reconhecido com o Grande Prêmio da Crítica da APCA (Associação Paulista dos Críticos de Arte) pela trajetória em constante diálogo com a sociedade. O reconhecimento é importante para o Stagium, como para a arte da dança e a cultura do nosso país.
Este prêmio veio depois de 50 anos, já que em 1974 também recebemos o grande Prêmio da Crítica. O Ballet Stagium foi um divisor de águas por manifestar que era possível desenvolver a arte da dança no Brasil e por resistir em meio a muitos desafios nestes 55 anos de existência. Eu agora, nos meus 92 anos, em plena atividade, me sinto privilegiado e com o coração pleno de gratidão. Gratidão a todos que colaboraram nesta caminhada. Gratidão a todos que nos acompanham de Norte a Sul do país. Gratidão ao apoio da Funarte. Gratidão ao Sesc, parceiro de todas as horas e de todos os tempos.
Agora, junto à Marika, continuamos a irrigar com abundância e alegria a constituição da nossa verdade!
lançamento






Claudio Leal É crítico, jornalista e doutorando em cinema pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP). É o organizador do livro O Devorador – Zé Celso, Vida e Arte.

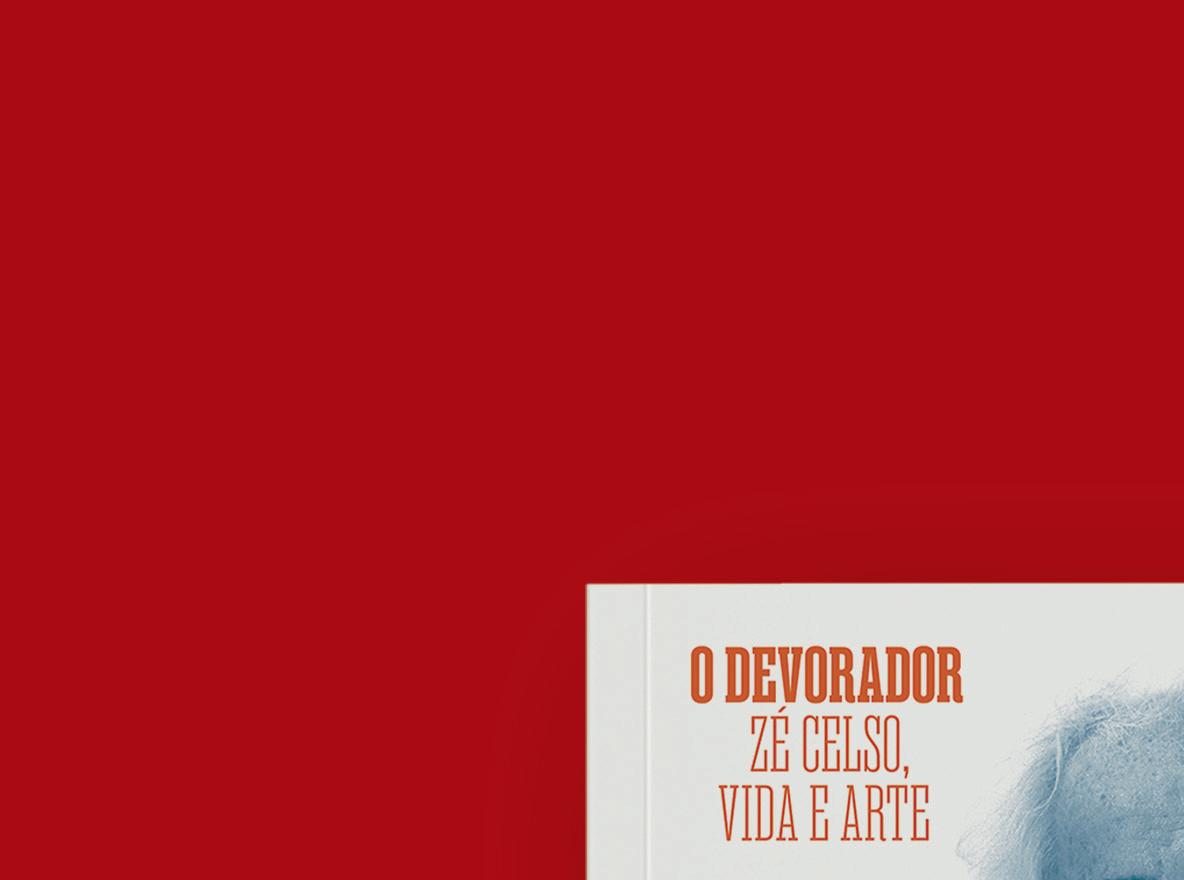






Antecipando-se à Lei da Anistia, o exílio político de José Celso Martinez Corrêa chegou ao fim em 29 de junho de 1978. Quatro anos antes, depois de ser preso e torturado na fase mais repressiva da ditadura militar, o diretor teatral decidiu exilar-se em Portugal, país recém-libertado do autoritarismo pela Revolução dos Cravos. Em suas andanças pela Europa e África, Zé Celso concretizou projetos de peças e filmes, mas, ao desembarcar no aeroporto de Viracopos, em Campinas, confiando na abertura política do Brasil, era como se tivesse que reconstruir um lugar perdido em seu país e sua profissão.
Em primeiro plano, estava a reocupação do Teatro Oficina, que viveria um acidentado percurso até o fim de sua completa reforma arquitetônica, assinada por Lina Bo Bardi e Edson Elito. Em janeiro de 1979, o diretor se juntou a Celso Luccas, companheiro de exílio, e quebrou a parede do fundo do teatro, sonhando com a sua integração mais profunda com o bairro do Bixiga, em São Paulo.
“Pudemos ver o que havia atrás do que atravessamos em Inspiração Sagrada. Tijolos caíam, fomos gozando pouco a pouco o céu vazio ao pôr do sol.
Um dos porteiros do Oficina foi me entregar na hora um postal de uma amiga que estava na Grécia e enviou uma imagem do Teatro Grego de Epidauro do deus Dionísios”, ele escreve em um texto incorporado ao livro O Devorador – Zé Celso, Vida e Arte (Edições Sesc).
No Oficina vazio, o artista vislumbrou as futuras montagens de Bacantes e Os Sertões, encenações que assimilariam o estilo da “TragyKomédyOrgya”, como definiu, em sua maturidade, a fusão de elementos da tragédia, da comédia e, sim, da orgia.
Do retorno do exílio até 1993, Zé Celso tentou se integrar ao curso do teatro brasileiro, mas continuou à margem e chegou a ser chamado de “decano do ócio” pelo colunista social Telmo Martino, conhecido por suas frases satíricas. Em 1991, ao lado de Marcelo Drummond e com o apoio do ator Raul Cortez, popularizado pela televisão, ele conseguiu voltar ao teatro comercial com a peça As Boas, de Jean Genet, montada no Centro Cultural São Paulo (CCSP). Entretanto, faltava a reestreia do diretor em um Oficina reconstruído.
Aos 56 anos, em 1993, Zé Celso escolheu Hamlet, de Shakespeare, para refundar o Oficina e retomar seus planos vanguardistas de integração de teatro e vida, buscando o encontro radical do espaço cênico com a cidade de São Paulo, o que abrangia a luta contra o grupo do comunicador Silvio Santos, dono do terreno vizinho e defensor de projetos imobiliários para o espaço onde a companhia teatral pretendia criar um parque público, só conquistado depois de sua morte.
Na montagem de Ham-let, Zé Celso assumiu o papel do fantasma do pai do príncipe da Dinamarca e, assim, encenou a dificuldade de superar a sua presença fantasmagórica desde o fim do exílio. “Fiquei folclórico nos anos [19]80, virei fantasma”, ele declarou.
Em seu outono de artista, dos 56 até os 86 anos, ele viveria 30 anos de inventividade, efervescência dramatúrgica e paixões teatrais e amorosas. Ham-let abriu um ciclo criativo tão intenso quanto o de sua juventude nos primeiros tempos do Teatro Oficina, nos anos 1950 e 1960.
Sexagenário, Zé Celso renovou seu mito e passou a dialogar com atores e espectadores jovens que, mesmo sem a sua presença, ainda ocupam o Oficina como um lugar de experiências teatrais de grande liberdade corporal e sensorial. Os eventuais abalos na saúde não lhe tiraram energia para montar Pra Dar um Fim no Juízo de Deus (1996), de Artaud; Boca de Ouro (1997), de Nelson Rodrigues; Cacilda! (a partir de 1998), um texto autoral; e Os Sertões (2002-2007), de Euclides da Cunha.
Minutos antes do incêndio em seu apartamento, na capital paulista, ele desenvolvia a dramaturgia de um novo projeto, a adaptação teatral do livro A Queda do Céu, do xamã yanomami Davi Kopenawa. Como se não bastassem os seus marcos anteriores no teatro brasileiro, ele pensava ser este o mais importante projeto de sua vida. Zé Celso morreu em 6 de julho de 2023, deixando um passado de espetáculos memoráveis e, em sua cabeça, um futuro de espetáculos sonhados.
resenha
Lucas Pelegrini Nogueira de Carvalho É professor adjunto do Departamento de Gerontologia da Universidade Federal de São Carlos (DGero/UFSCar), docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Gerontologia e vice-coordenador do Curso de Graduação em Gerontologia da mesma universidade. Também é presidente da Associação Brasileira de Gerontologia (ABG). lucaspnc@ufscar.br
O livro Da Infância à Velhice: O Fenômeno Cultural das Gerações, de José Carlos Ferrigno, é uma contribuição indispensável para quem se dedica não apenas aos estudos do envelhecimento, como também ao das relações entre as gerações. O autor, que possui uma sólida trajetória no campo da intergeracionalidade, de forma clara e aprofundada convida o leitor a refletir sobre os sentidos, as tensões e as possibilidades que marcam a convivência entre pessoas de diferentes idades na sociedade contemporânea.
Dividido em duas partes, o livro apresenta inicialmente uma análise conceitual e histórica sobre o fenômeno geracional. Ferrigno retoma a construção do conceito de geração desde a Antiguidade, no período Greco-Romano por exemplo, até estudos e reflexões de teóricos contemporâneos.
Mais do que um recorte etário, o autor chama atenção para o fato de que geração é entendida como pertencimento simbólico e histórico, influenciada por contextos sociais, políticos e culturais. Ao abordar temas como ciclo de vida, família, trabalho e gênero, o autor nos contempla com uma visão ampliada acerca deste debate e mostra como as experiências das gerações são atravessadas por múltiplas dimensões.
Na segunda parte da obra, o foco se volta para a intergeracionalidade como campo de conhecimento e prática. Nela, além de fornecer exemplos de programas intergeracionais no âmbito nacional e internacional, Ferrigno compartilha experiências de sua atuação no Sesc, onde acompanhou e coordenou programas voltados à convivência entre jovens e pessoas idosas.

Ele vai além da descrição: analisa níveis de interação possíveis entre gerações, diferencia convivência de coeducação e propõe que o verdadeiro encontro intergeracional se dá quando há escuta mútua, troca de saberes e construção conjunta de sentidos.


Um dos méritos da obra, sem dúvida, é o equilíbrio entre teoria e prática. As discussões conceituais ganham vida com exemplos reais, como oficinas intergeracionais, projetos educativos e experiências institucionais que buscaram, mesmo com dificuldades, criar espaços de diálogo entre idades.
Ao longo de sua obra, o autor alerta para os riscos do etarismo e da fragmentação social. Ferrigno também destaca a importância da formação de profissionais capazes de atuar na mediação das relações intergeracionais, além de defender que políticas públicas, ações educativas e solidariedade intergeracional, por exemplo, são fundamentais para promover a aproximação entre gerações, especialmente em contextos marcados por desigualdade, isolamento social e etarismo.
apresenta um olhar crítico, mas propositivo. Diante das rápidas transformações tecnológicas, da crise ambiental e das fragilidades das relações sociais, Ferrigno afirma que a amizade intergeracional entre as pessoas pode se constituir como a forma mais elevada de vínculo, atuando como “antídoto insubstituível para o distanciamento afetivo” (FERRIGNO, 2024, p. 217). Para ele, essa amizade construída na convivência é uma via promissora para recompor laços sociais e enfrentar os desafios de um mundo marcado pela fragmentação.



No capítulo final, dedicado ao futuro das relações intergeracionais, o autor
Ao final da leitura, Da Infância à Velhice: O Fenômeno Cultural das Gerações se revela uma obra essencial para compreender as dinâmicas geracionais em sua profundidade histórica, social e cultural. Além de ser uma leitura atual, acessível e necessária a todas as pessoas que estão no campo teórico ou prático envolvendo as relações entre gerações. Em um mundo marcado por polarizações e rupturas, o livro nos lembra a importância de construirmos uma sociedade em que as diferenças etárias não sejam barreiras, mas pontes para o reconhecimento mútuo e para a solidariedade ativa entre todas as idades.


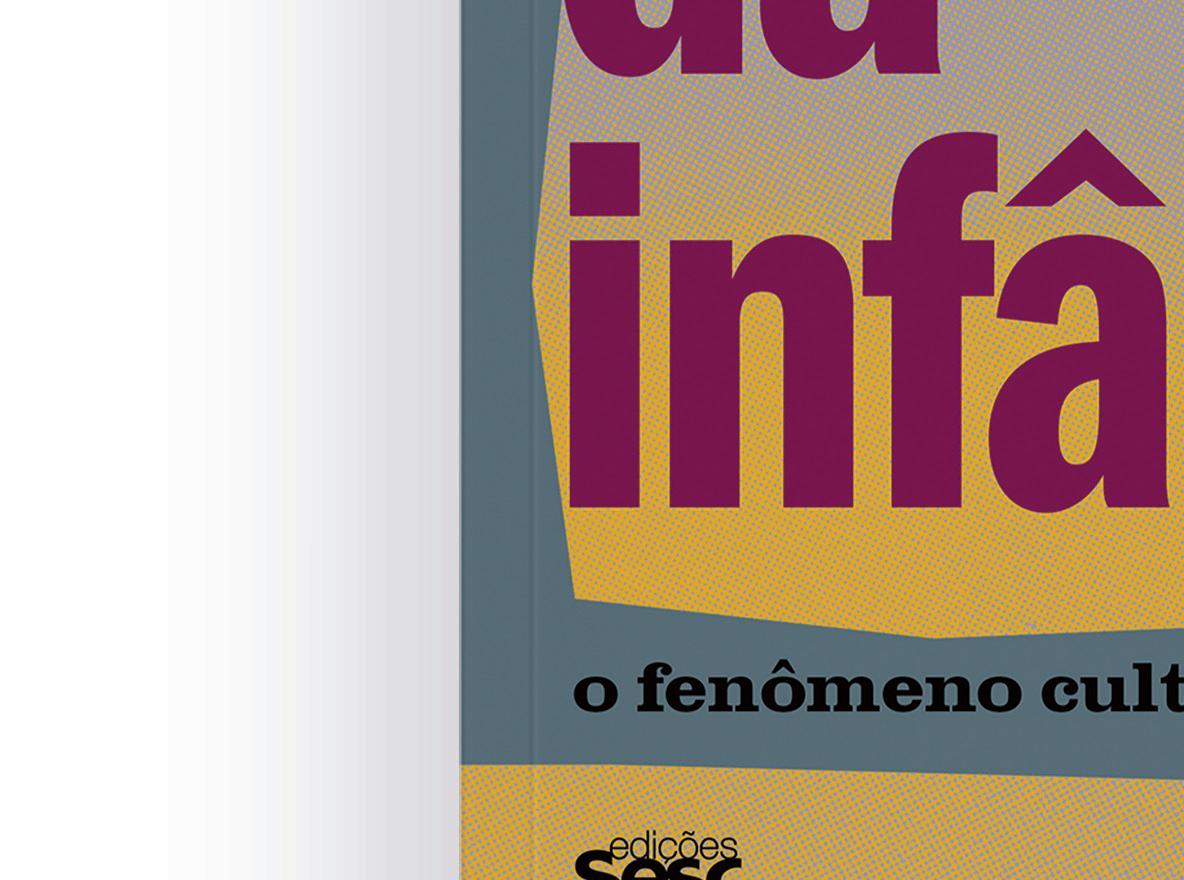

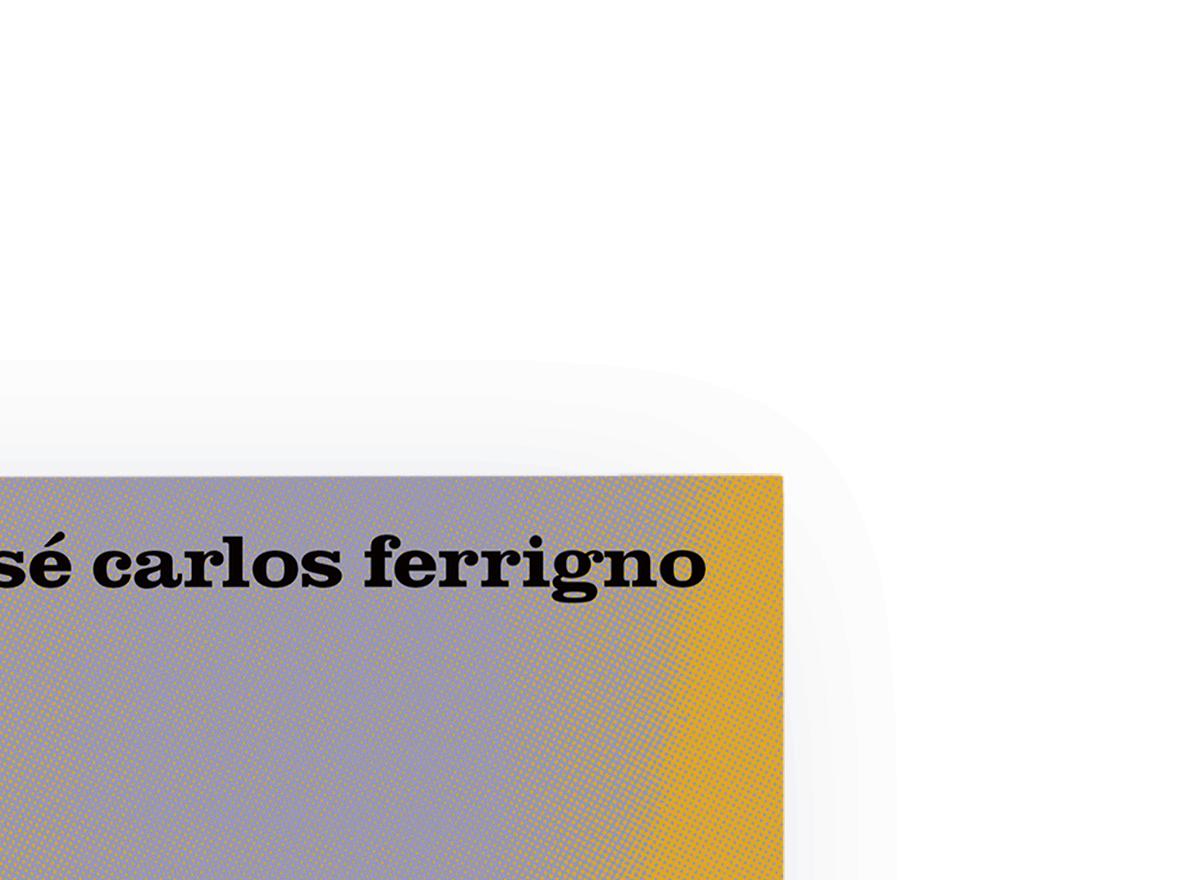
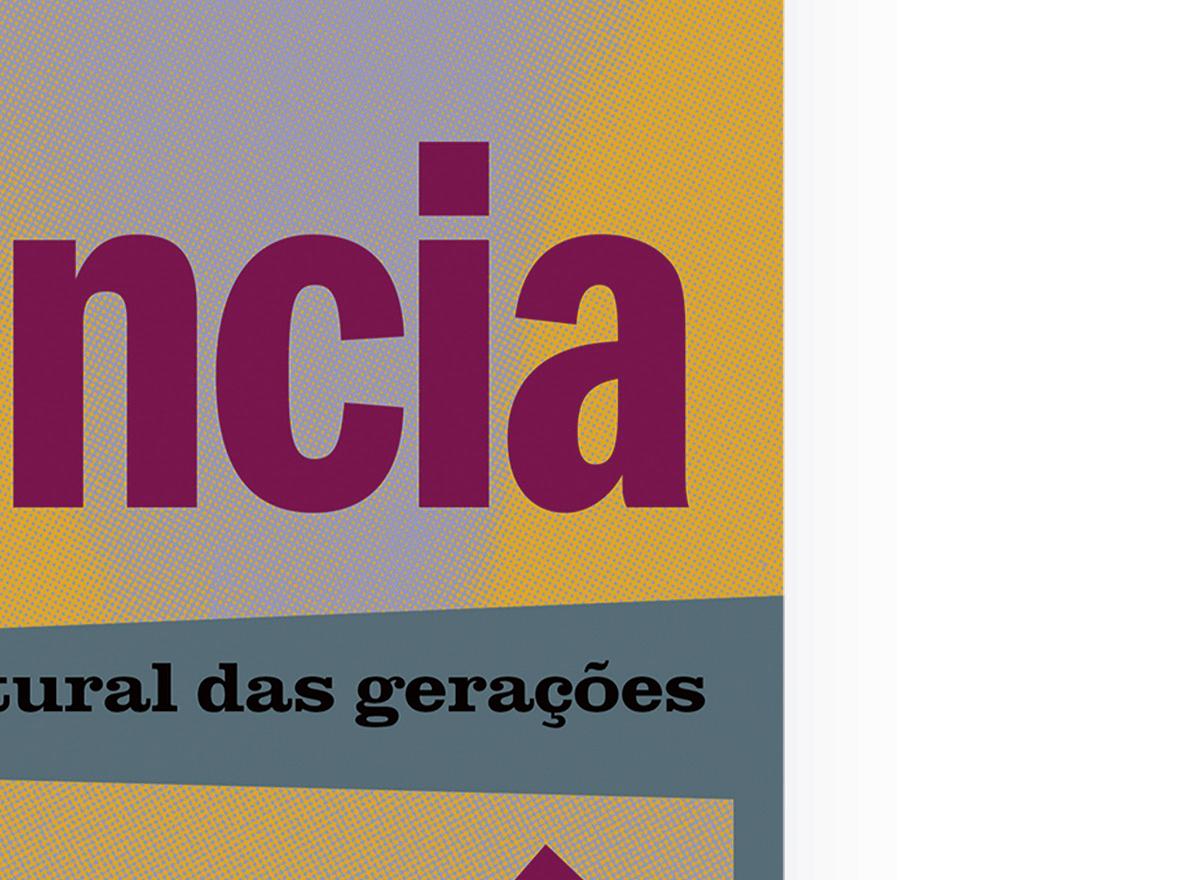
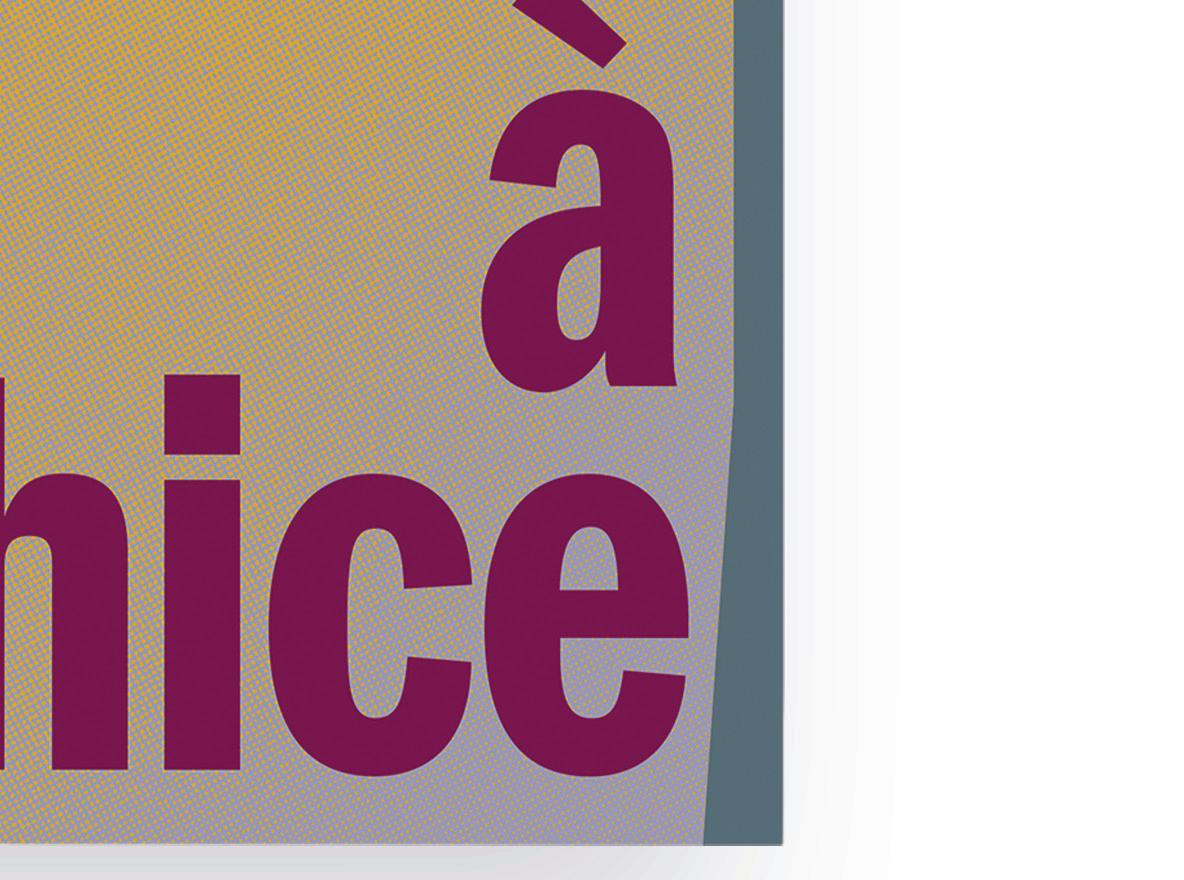

A revista : Estudos sobre Envelhecimento é uma publicação multidisciplinar, editada desde 1988 pelo Sesc São Paulo, de periodicidade quadrimestral e dirigida a estudantes, especialistas e interessados na área do envelhecimento. Tem como propósito estimular a reflexão e a produção intelectual no campo da gerontologia e das áreas em que o envelhecimento e a longevidade são objetos de estudo. Seu objetivo é publicar artigos de divulgação técnicos e científicos que abordem os diversos aspectos da velhice (físico, psíquico, social, cultural, econômico etc.) e do processo de envelhecimento.
NORMAS GERAIS
Os artigos devem seguir rigorosamente as normas abaixo, caso contrário, não serão encaminhados para a comissão editorial.
• Os artigos devem ser enviados para o endereço eletrônico: revistamais60@ sescsp.org.br.
• Os artigos não precisam ser inéditos, basta que se enquadrem nas normas para publicação que serão apresentadas a seguir. Quando o artigo já tiver sido publicado deve-se, obrigatoriamente, informar em nota à parte sob qual forma, onde e em qual data foi publicado (revista, palestra, comunicação em congresso etc.).
• Ao(s) autor(es) será(ão) solicitada a Cessão de Direitos Autorais – conforme modelo Sesc São Paulo –quando da aceitação de seu artigo. Os direitos de reprodução (copyright) serão de propriedade do Sesc São Paulo, podendo ser reproduzido novamente em outras publicações técnicas assim como no Portal Sesc São Paulo (sescsp. org.br), aplicativo e redes sociais desta instituição.
• Os dados, bem como as
interpretações dos resultados emitidos no artigo são de inteira responsabilidade dos autores, não refletindo, obrigatoriamente, a opinião da comissão editorial da revista.
• Todos os artigos enviados que estiverem de acordo com as normas serão analisados pela comissão editorial, que opinará sobre a pertinência ou não de sua publicação. No caso de o artigo ser aceito o(s) autor(es) correspondente(s) será(ão) contatado(s) por e-mail e terá(ão) direito a receber 1 (um) exemplar da edição em que seu artigo foi publicado.
• Os artigos devem apresentar uma breve nota biográfica do(s) autor(es) contendo: nome(s); endereço completo; endereço eletrônico, telefone para contato; se for o caso, indicação da instituição principal à qual se vincula (ensino e/ ou pesquisa) e cargo ou função que nela exerce.
• Os trabalhos aceitos serão enviados à revisão editorial e apenas modificações substanciais serão submetidas ao(s) autor(es) antes da publicação.
DOS ARTIGOS
• Os artigos devem ser apresentados em extensão .doc ou .docx e devem conter entre 20.000 e 32.000 caracteres, sem espaço, no total. Isto é, incluindo resumo, abstract e referências bibliográficas.
• Categorias de artigos: resultados de pesquisa (empírica ou teórica), relatos de experiência e revisão de literatura.
• O resumo deve ser estruturado e conter, nesta ordem: introdução, materiais e métodos, resultados e conclusão. Deve conter cerca de 200 palavras e vir acompanhado por até cinco palavras que identifiquem o conteúdo do trabalho, as palavras-chave.
• O abstract deve conter cerca de 200 palavras,
seguir a mesma ordem do resumo em português e vir acompanhado por até cinco palavras que identifiquem o conteúdo do trabalho, as keywords
• O artigo deve conter: introdução; hipótese (opcional); materiais e métodos; resultados; discussão; e conclusão ou considerações finais.
• As referências bibliográficas, notas de rodapé e citações no texto deverão seguir as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
• A quantidade máxima é de 30 (trinta) referências bibliográficas por trabalho. Revisões de literatura poderão conter mais referências. A autenticidade das referências bibliográficas é de responsabilidade única e exclusiva dos autores.
• Gráficos e figuras devem ser utilizados quando houver necessidade para entendimento do texto. Constar sob a denominação “Figura” ou “Gráfico” e possuir boa qualidade técnica e artística. Devem ser enviados separadamente e ter resolução mínima de 300 dpi, tamanho mínimo de 10cm x 15cm, no formato JPG ou PDF. As imagens devem ser numeradas no texto e trazer abaixo um título ou legenda, com indicação da fonte/ autor. Em hipótese alguma devem ser incorporadas no próprio texto do artigo.
Os gráficos devem ser enviados separadamente no formato XLS/XLSX (Microsoft Office Excel) ou PDF.
• Tabelas ou quadros: devem ser autoexplicativos, constar sob as denominações “Tabela” ou “Quadro” no arquivo eletrônico e ser numerados. A legenda deve acompanhar a tabela ou o quadro e ser posicionada abaixo deles. Siglas ou sinais apresentados devem estar traduzidos em nota colocada abaixo do corpo da tabela/quadro ou em sua legenda. Devem ser citados no corpo do texto, na ordem de sua numeração.
• Fotos: no caso de utilização de fotos (necessariamente em alta resolução, mínimo de 300 dpi), elas devem vir acompanhadas de autorização de veiculação de imagem do fotografado e com crédito e autorização de publicação do fotógrafo (segundo o modelo do Sesc São Paulo). Só devem ser utilizadas quando houver necessidade para entendimento do texto.
• A quantidade de imagens, tabelas e quadros deve ser limitada em 4 tabelas ou quadros e 2 imagens por artigo.
• Citações de referências bibliográficas: no texto incluir autor, data e página (quando necessário). Ex: Segundo Silva (2019). Se a citação for entre parênteses: (SILVA, 2019).
Neste último caso utilizar a fonte Arial número 10.
• As referências devem ser organizadas em ordem alfabética, pelo sobrenome do autor. Devem aparecer alinhadas à margem esquerda e de forma a se identificar individualmente cada documento, em espaço simples e separadas entre si com espaço de 1,5.
• Materiais extras do artigo podem ser aceitos para a inclusão no aplicativo do Sesc São Paulo, onde a revista também está inserida. Estão incluídos fotos e vídeos em boa resolução e com as devidas autorizações de uso de imagem. Formato das imagens: JPEG, PNG, PDF e TIFF. Vídeos: MPEG4, MP4 e MOV. Áudios: MP3. Também são passíveis de aceitação conteúdos incorporados do YouTube, desde que haja autorização do responsável da conta para sua divulgação. Em caso de dúvida, entre em contato pelo e-mail: revistamais60@sescsp.org.br.
O Sesc – Serviço Social do Comércio é uma instituição de caráter privado, de âmbito nacional, criada em 1946 por iniciativa do empresariado do comércio, serviços e turismo, que a mantém e administra. Sua finalidade é a promoção do bem-estar social, a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento cultural do trabalhador no comércio e serviços e de seus dependentes – seu público prioritário – bem como da comunidade em geral.
O Sesc de São Paulo coloca à disposição de seu público atividades e serviços em diversas áreas: cultura, lazer, esportes e práticas físicas, turismo social e férias, desenvolvimento infantil, educação ambiental, terceira idade, alimentação, saúde e odontologia. Os programas que realiza em cada um desses setores têm características eminentemente educativas.
Para desenvolvê-los, o Sesc São Paulo conta com uma rede de 43 unidades, disseminadas pela capital, grande São Paulo, litoral e interior do estado. São centros culturais e desportivos, centros campestres, centro de férias e centros especializados em odontologia e cinema.
CONSELHO REGIONAL DO SESC – 2022-2026
PRESIDENTE
Abram Szajman
DIRETOR DO DEPARTAMENTO REGIONAL
Luiz Deoclecio Massaro Galina
MEMBROS EFETIVOS
Arnaldo Odlevati Junior, Benedito Toso de Arruda, Dan Guinsburg, Jair Francisco Mafra, José de Sousa Lima, José Maria de Faria, José Roberto Pena, Manuel Henrique Farias Ramos, Marcus Alves de Mello, Milton Zamora, Paulo Cesar Garcia Lopes, Paulo João de Oliveira Alonso, Paulo Roberto Gullo, Rafik Hussein Saab, Reinaldo Pedro Correa, Rosana Aparecida da Silva, Valterli Martinez, Vanderlei Barbosa dos Santos
MEMBROS SUPLENTES
Aguinaldo Rodrigues da Silva, Antonio Cozzi Junior, Antonio Di Girolamo, Antônio Fojo Costa, Antonio Geraldo Giannini, Célio Simões Cerri, Cláudio Barnabé Cajado, Costabile Matarazzo Junior, Edison Severo Maltoni, Omar Abdul Assaf, Sérgio Vanderlei da Silva, Vilter Croqui Marcondes, Vitor Fernandes, William Pedro Luz
REPRESENTANTES DO CONSELHO REGIONAL JUNTO AO CONSELHO NACIONAL
MEMBROS EFETIVOS
Abram Szajman, Ivo Dall’Acqua Júnior, Rubens Torres Medrano
MEMBROS SUPLENTES
Álvaro Luiz Bruzadin Furtado, Marcelo Braga, Vicente Amato Sobrinho
Baixe grátis essa e outras publicações do Sesc São Paulo, disponíveis em:
nesta edição
A reportagem Mestres e Mestras da Cultura Popular Brasileira apresenta um panorama dos saberes artísticos preservados e disseminados pelas pessoas mais velhas, sejam em comunidades indígenas e quilombolas, em escolas de samba, em grupos de teatro ou dança populares, entre muitas outras possibilidades.
Em Envelhecimento
Artista na Longevidade, a autora defende um envelhecer artista, que se traduz em uma atitude estética na longevidade. O objetivo é destacar a arte como fomento para o deslocamento humano e para a reinvenção de nossas condições de vida, além de vislumbrar um longeviver que transcenda os estereótipos negativos.
O Tempo na Formação da Subjetividade dos Sujeitos que Estão na Fase da Velhice e que Têm a Arte como Ofício investiga a formação da subjetividade de artistas na velhice e sua relação com o tempo, fundamentado na
psicanálise e no pensamento sociocultural. Com base em Freud e Lacan, analisa-se como a temporalidade impacta a experiência subjetiva do envelhecimento e como a arte possibilita a permanência ativa desses sujeitos.
Othon Bastos é o entrevistado da edição. Em 2023, completou 92 anos de idade e 72 anos de carreira. Nasceu em 1933, em Tucano, na Bahia. Começou sua carreira na década de 1950, no filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 1964. Nos anos 1990, dois filmes nacionais que tiveram sua participação concorreram ao Oscar de melhor filme estrangeiro: O que É Isso, Companheiro?, de Bruno Barreto; e Central do Brasil, de Walter Salles. É recordista em participações na TV, já tendo trabalhado em mais de 80 produções entre novelas, séries, minisséries e casos especiais nas diversas emissoras pelas quais já passou.
Claudio Leal, crítico, jornalista e organizador do
livro O Devorador – Zé Celso, Vida e Arte apresenta o texto No Teatro Oficina, Zé Celso Ampliou Seu Ciclo Criativo na Maturidade, que analisa a produção do diretor no envelhecimento. O livro O Devorador reúne ensaios e depoimentos inéditos de artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé, Maria Bethânia, Bete Coelho, Jorge Mautner, entre muitos outros. O livro traça uma narrativa multifacetada da carreira de José Celso Martinez Corrêa (1937-2023), marcada pela inovação radical, pela crítica política e pela celebração da liberdade artística e corporal. A obra é um lançamento da Edições Sesc.
Na editoria Envelhecemos, o coreógrafo, bailarino, professor e pesquisador Luis Arrieta, que iniciou seus estudos de dança em 1972 onde nasceu, na Argentina, e que desde 1974 atua no Brasil, revela como desenvolveu o espetáculo de dança Corpo Velhos –Para que Servem? no qual atua como diretor e bailarino, juntamente com grandes nomes da dança brasileira.
sescsp.org.br