
Sesc São Paulo Av. Álvaro Ramos, 991 03331–000 São Paulo – SP
Tel.: +55 11 2607 8000 sescsp.org.br
volume 34 número 88 dezembro/2024


Sesc São Paulo Av. Álvaro Ramos, 991 03331–000 São Paulo – SP
Tel.: +55 11 2607 8000 sescsp.org.br
volume 34 número 88 dezembro/2024
sesc – serviço social do comércio Administração Regional no Estado de São Paulo
presidente do conselho regional
Abram Szajman
diretor do departamento regional
Luiz Deoclecio Massaro Galina
superintendência
técnico - social
Rosana Paulo da Cunha comunicação social
Ricardo Gentil administração
Jackson Andrade de Matos
assessoria técnica e de planejamento
Marta Raquel Colabone
assessoria jurídica
Carla Bertucci Barbieri
gerentes
estudos e programas sociais Flávia Andréa Carvalho artes gráficas Rogério Ianelli
comissão editorial
Adriana Reis Paulics, André Dias, Carla Lira Mantovani, Dulci Lima, Gustavo Nogueira de Paula, Juliana Fernandes Silveira, Juliana Viana Barbosa, Neide Alessandra Périgo Nascimento, Paula Caroline de Oliveira Souza, Rosângela Barbalacco, Suellyn Ortiz Camargo,Teresa Maria da Ponte Gutierrez, Zulaie L. Breviglieri da Silva
coordenação geral Flávia Andréa Carvalho coordenação executiva André Dias e Rosângela Barbalacco editoração Humberto Mota produção digital Rodrigo Losano fotografias pág. 9: Clarice Castro - Ascom/ MDHC; pág. 14: Dyana Souza; pág. 19, 25, 31 e 36: Ricardo Ferreira; pág. 38, 43 e 53: Hildeana Nogueira Dias Souza; pág. 82, 85, 86: Ayane Melo; capa, pág. 89, 90, 92, 93, 94 e 95: Matheus José Maria; pág. 110: M. Mercedes Zerda Cáceres; pág. 116 e 127: Bruna Damasceno revisão Samantha Arana projeto gráfico Cesar Albornoz
Artigos para publicação podem ser enviados para avaliação da comissão editorial no seguinte endereço: revistamais60@sescsp.org.br
Mais 60: estudos sobre envelhecimento / Edição do Serviço Social do Comércio. –São Paulo: Sesc São Paulo, v. 34, n. 88, Dezembro 2022 –. Quadrimestral.
ISSN 2358-6362
Continuação de A Terceira Idade: Estudos sobre Envelhecimento, ano 1, n. 1, set. 1988-2014. ISSN 1676-0336.
1. Gerontologia. 2. Terceira idade. 3. Idosos. 4. Envelhecimento. 4. Periódico. I. Título. II. Subtítulo. III. Serviço Social do Comércio.
CDD 362.604

artigo principal
Envelhecer nos Territórios – Um Direito que Precisa ser Garantido para Todas as Pessoas Idosas
por Alexandre da Silva, secretário nacional dos Direitos da Pessoa Idosa
Envelhecer com Dignidade nas Favelas É Possível?
por Alexandre Ernesto Silva, Bettina Turner, Jeane Pereira da Silva Juver, Matheus Rodrigues Martins e Raquel Laine Alves Santos
No Rastro da Capitoa: “O Poder” da Mulher Velha nos Rituais da Marujada em Território Amazônico por Hildeana Nogueira Dias Souza
Conversando sobre Questões de Envelhecimento em Quilombos por Ana D’Arc Martins de Azevedo, Carmen Pineda Nebot, Carla Joelma de Oliveira Lopes e Eduardo Silva dos Santos
Feminização da Velhice: Desigualdades de Gênero e Impactos no Processo de Envelhecimento por Naylana Rute da Paixão Santos
entrevista
Lia de Itamaracá
fotos
Fernanda Montenegro Por Matheus José Maria
resenha
Não se Nasce Fernanda Montenegro, torna-se
Fernanda Montenegro: a Relação da Atriz com o Pensamento de Simone de Beauvoir por Mirian Goldenberg
painel de experiências. especial américa latina.
A Comunidade Awicha – Gerontologia Comunitária Aimará por M. Mercedes Zerda Cáceres
envelhecemos
Coração de Criança Não Morre – Sobre Rugas e Espinhas por Sérgio Vaz
editorial
Uma das questões que acompanham o envelhecer é a noção de pertencimento. O lugar ao qual pertencemos, e que também nos pertence, se torna uma referência importante na velhice, pois nos proporciona a sensação de fazer parte de uma comunidade, de um grupo. Tal sensação é tão importante na velhice que se manifesta, inclusive, nas pessoas que habitam territórios em que há vulnerabilidade. Diante desses cenários, o pertencer valoriza a história vivida e confirma a importância da participação social e das redes construídas de afetos.
Assim, a revista mais60 apresenta o valor do território no envelhecimento, seja na vida de artistas, como Fernanda Montenegro e Lia de Itamaracá,
ou em coletividades unidas pelo afeto, como a Favela Compassiva no Rio de Janeiro ou a Comunidade Urbana Aymará na Bolívia.
Podemos dizer que o território de Fernanda Montenegro é o Teatro. Diferentemente da maior parte das artistas que temem o envelhecimento, ela o enfrentou aberta e publicamente em seu lugar de origem: o palco. Tal postura parece ter sido decisiva na consolidação de seu papel como referência pública. Nesta edição, a pesquisadora Mirian Goldenberg reflete sobre a trajetória da atriz, tendo como pano de fundo o texto Cerimônia do Adeus de Simone de Beauvoir, apresentado em forma de leitura dramática entre os meses de junho e julho no teatro Raul Cortez, do Sesc 14 Bis.
O artigo acompanha um ensaio fotográfico inédito da atriz para a revista mais60 – Estudos sobre Envelhecimento.
A entrevistada da edição é Lia de Itamaracá, que traz em seu nome o local de pertencimento. Com seus 80 anos completados em 2024, a Rainha da Ciranda é uma mulher negra e nordestina, que divulga a cultura brasileira no país e no mundo, conquistando fãs em todo o Brasil, especialmente os jovens. Lia começou a sonhar em ser cirandeira quando ainda era menina e não imagina sua vida sem a dança.
O secretário nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Alexandre da Silva, assina artigo no qual discorre sobre o programa Envelhecer no Território do Governo Federal. A iniciativa busca assegurar Direitos Humanos às pessoas idosas em sua própria região, contando com agentes que estão em contato com aqueles que envelhecem e suas demandas.
O artigo Envelhecer com Dignidade nas favelas, É Possível? descreve uma das iniciativas voltadas à implementação dos cuidados paliativos em territórios vulneráveis. Ação desenvolvida pela Associação Favela Compassiva Rocinha e Vidigal, caracteriza-se por ser um movimento comunitário, associado ao desenvolvimento de políticas públicas e que oferece suporte à pessoa idosa que adoece e suas famílias.
Ainda falando de território, o artigo A Comunidade Awicha – Gerontologia Comunitária Aimará conta sobre o envelhecimento de uma comunidade urbana em La Paz, Bolívia, criada por mulheres idosas originárias que se perceberam sozinhas e que recuperaram o controle de suas vidas para envelhecer em conjunto e contribuir com a sociedade.
Conversando Sobre as Questões de Envelhecimento nos Quilombos traz uma análise acerca do envelhecimento em territórios quilombolas. Destaca-se que, no caso dos trabalhadores idosos, alguns estiveram à margem do sistema produtivo durante todo o percurso de vida e nunca tiveram registro em Carteira de Trabalho e na Previdência Social, pois foram excluídos da possibilidade de crescimento profissional e de melhoria na qualidade de vida.
Para a maior parte das pessoas, o envelhecimento ideal parece acontecer na mesma cidade, bairro e residência, ou seja, no mesmo território. Esse desejo é explicado pela segurança trazida pelo sentimento de pertencimento. Nos territórios, inclusive naqueles habitados por contradições, estão também as memórias, as vivências e os afetos que nos constituem como seres humanos. Atualmente, valorizar o envelhecimento no território é uma das principais maneiras de lidar com o aumento expressivo de pessoas idosas no Brasil.
Boa leitura!
Alexandre da Silva Secretário nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, vice-presidente do Conselho Nacional da Pessoa Idosa e conselheiro no Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa no âmbito do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC). Possui especialização em gerontologia pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), doutorado em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (FSP/USP) e mestrado em reabilitação pela Unifesp. cndpi@mdh.gov.br
O Brasil é um país de dimensões continentais, que divide fronteiras com outras nações e que também agrega diversidades geográficas e culturais. Essa riqueza é comprovada pelas milhares de espécies de árvores, de animais, pelos metais e pelos desenhos arquitetônicos predominantes em diferentes locais. Este contexto de múltiplos fatores torna dinâmico qualquer processo demográfico ocorrido ou em andamento, seja no âmbito municipal, estadual ou nacional.
Quanto à nossa constituição cultural, o Brasil abriga tudo que já existia desde o início da sua criação, tudo o que veio de outros países e tudo o que se transformou ao chegar nesse território. Todos esses saberes e práticas presentes transformam nossa forma de viver, de nos constituir e de nos entendermos como pessoas brasileiras ou como pessoas que aqui residem e passam a fazer parte dessa sociedade, cada vez mais democrática e digna de direitos.
Segundo o Decreto 6.040, de 2007, que instituiu a Política
Nacional de Desenvolvimento
Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, define-se que esses povos e comunidades são culturalmente
diferenciados entre si. Eles se identificam por meio dessas particularidades, que geram formas próprias de organização social, de uso e ocupação territorial para a reprodução cultural, social, religiosa, econômica e ancestral por meio dos seus conhecimentos, inovações e práticas transmitidos, principalmente, pela tradição. Exemplos de povos e comunidades tradicionais incluem as pessoas indígenas, quilombolas, ribeirinhas e extrativistas. Esses povos e comunidades, juntamente com os diversos grupos sociais que

O território é o espaço onde ocorrem as dinâmicas sociais, econômicas, políticas e vai muito além das
condições e espaços físicos, sejam naturais ou construídos, planejados ou não. É nesse ambiente dinâmico, que envolve tanto o meio natural quanto o das coisas presentes, que o envelhecimento da comunidade e das pessoas idosas deve acontecer
chegaram dos continentes de África, da Europa, dos países vizinhos, da Ásia, da América Latina e de tantas outras nacionalidades, formam a sociedade brasileira. Esses processos migratórios, além de responsáveis pelo aumento da diversidade cultural do país, são também um dos fatores da desigualdade histórica presente, que ultrapassa diversas gerações e repercute na forma de envelhecimento de milhões de pessoas até os dias atuais.
O território é o espaço onde ocorrem as dinâmicas sociais, econômicas, políticas e vai muito além das condições e espaços físicos, sejam naturais ou construídos, planejados ou não. É nesse ambiente dinâmico, que envolve tanto o meio natural quanto o das coisas presentes, que o envelhecimento da comunidade e das pessoas idosas deve acontecer. Infelizmente, na maioria das vezes, é necessário reivindicar o direito de escolher um local para envelhecer.
A pouca visibilidade de um povo que envelhece se manifesta na qualidade, no acesso e no uso dos serviços, nos equipamentos e nas relações estabelecidas entre todas as pessoas que constituem a comunidade de um bairro ou a população de
um município. Nem sempre os territórios, considerando os aspectos físicos e as relações sociais, são capazes de acolher respeitosamente as demandas das pessoas idosas e o seu desejo de envelhecer nesse local de seu afeto ou da sua escolha. Nesse ponto, a presença do Estado, por meio de políticas públicas e ações concretas, é essencial, embora, muitas vezes, não seja suficiente para mudar essa realidade desagradável. Isso se deve à forte presença do idadismo, que é a discriminação baseada na idade, e que reproduz ou mantém práticas que impedem o pleno exercício da cidadania das pessoas mais velhas que ali habitam.
Há também as políticas voltadas para as pessoas idosas que ainda não estão atualizadas para garantir os direitos relacionados às suas atuais demandas. Além disso, muitos programas e políticas voltados para grupos específicos, como mulheres, pessoas negras, pessoas LGBTQIA+, pessoas em situação de rua, pessoas privadas de liberdade e povos e comunidades tradicionais também não garantem direitos ou ações específicas para as pessoas idosas, perpetuando essa invisibilidade. Em muitos desses grupos, ainda é um sonho alcançar a marca
dos 60 anos ou mais, pois a mortalidade é muito alta antes de se chegar à velhice. O que mais nos entristece é que muitos desses fatores são passíveis de mudanças, pois se referem a condições socioeconômicas, formas de cuidado e mudanças culturais relacionadas aos preconceitos e às discriminações acumuladas ao longo das décadas de vidas.
Segundo os dados atuais do Censo, são mais de 32 milhões de pessoas idosas no Brasil, o que corresponde a 15,8% da população total. Esse momento demográfico, que já defino como a Revolução da Longevidade, foi possível graças à implementação de políticas que consolidam direitos, equipamentos e serviços de saúde e assistência social, ou seja, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) e do Sistema Único de Assistência Social (Suas). Outras políticas e ações também são responsáveis pelo aumento da população idosa e da sua expectativa de vida (em 1940, a expectativa era de 45,5 anos e, atualmente, está em torno de 76,6 anos). Entre essas políticas, destacam-se aquelas voltadas para a previdência social, o trabalho, a educação, o transporte e a moradia, por exemplo.
E, ainda que se tenha grandes expectativas de que as políticas e ações públicas atendam a todas as necessidades e demandas da população idosa brasileira, não se pode deixar de valorizar tudo o que já foi conquistado. A partir disso, devemos seguir avançando nas conquistas pactuadas e dialogadas com a participação social que defende os direitos das pessoas idosas.
Milton Santos definiu território como uma construção social, resultado de interações, transformações e significados de diversos elementos, condições e momentos históricos, políticos, religiosos, econômicos e culturais. Nele, ocorre a manifestação de poderes, a legitimação de identidades e de práticas culturais. Quando consideramos as pessoas idosas, o contexto de vida de quem se tornou idoso e viveu sua velhice em um mesmo território é diferente daquele de uma pessoa idosa que escolheu um novo local, por vezes ainda desconhecido, para viver sua velhice. No primeiro caso, considera-se o que foi construído e destruído ao longo das décadas de vida da pessoa e do território escolhido ou imposto para o envelhecimento.
No segundo caso, surge uma nova condição para a pessoa idosa e para o território, muitas vezes também envelhecido, cujas marcas – como as dores das violências, os sentimentos decorrentes dos processos migratórios, as conquistas obtidas – precisam se conectar e transformar-se em um local onde direitos e cidadania possam estar assegurados.
O território produz e reproduz relações sociais que, no processo de envelhecimento, podem reforçar ou repetir práticas idadistas prejudiciais à criação de espaços e ações voltados para pessoas idosas, como a permanência de pessoas não idosas. A priorização da construção de creches, em vez de espaços destinados às pessoas idosas, como centros de convivência e centros-dia, é um exemplo dessa constatação.
O embasamento de dados e de evidências na construção de ações estratégicas para pessoas idosas no Brasil foi, por décadas, focado principalmente nas produções acadêmicas e nas experiências de gestão oriundas das grandes cidades ou das áreas urbanas. Isso representou uma escolha ou um viés que
precisou ser revisado, pois, segundo dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o fenômeno do envelhecimento afetou também as cidades pequenas do interior e as áreas rurais do país. São nesses territórios que residem muitos grupos sociais historicamente vulnerabilizados pela pobreza, baixa escolaridade, pelas poucas oportunidades de empregabilidade, insuficiência de infraestrutura e dificuldade de acesso aos benefícios previdenciários, como pensão e aposentadoria. Essa precariedade torna os municípios menos atraentes para milhões de pessoas jovens e adultas, o que reduz a presença de familiares na vida cotidiana das pessoas idosas que ali residem. Essa situação provoca a diminuição da rede de apoio e proteção, compromete a transmissão de saberes e tem um impacto econômico negativo nas cidades, podendo até reduzir o Fundo de Participação dos Municípios (FPM), uma fonte orçamentária essencial para que os serviços públicos não deixem de funcionar.
Esses processos migratórios de pessoas não idosas geram uma nova dinâmica para os municípios: por um lado há a necessidade de criar ou ampliar os serviços e equipamentos destinados às pessoas de
60 anos ou mais, por outro, é preciso investir em ações que estimulem o convívio intergeracional e melhorem as condições para quem deseja envelhecer nesses territórios.
Por essas exposições acima, pode-se afirmar que nem todas as cidades brasileiras com grande número de pessoas idosas indicam que ali se envelhece bem. Para isso, alguns dos parâmetros utilizados no Programa Envelhecer nos Territórios, que será apresentado mais adiante neste texto, consideram indicadores relacionados às privações socioeconômicas em conjunto com outros indicadores referentes à população para identificar os munícipios com maiores chances de violações e de precariedade das condições de vida das pessoas de 60 anos ou mais.
Um aspecto central da discussão sobre território e pessoas idosas é: como garantir um bom território para se viver? Seriam condições voltadas, prioritariamente, para as questões de acessibilidade, saúde, lazer e mobilidade?
Seria um local onde as práticas culturais fossem
Esses processos migratórios de pessoas não idosas geram uma nova dinâmica para os municípios, ora pela necessidade de criação ou ampliação dos serviços e equipamentos para as pessoas de 60 anos ou mais, ora no investimento nas ações que estimulem o convívio intergeracional e melhores condições para quem deseja envelhecer nesses territórios.
respeitadas e dignificadas sem qualquer ameaça de apagamento, depreciação ou de apropriação inadequada?
Seria um local onde membros de uma mesma geração, família ou grupo de amigos compartilhassem dos mesmos espaços públicos, as mesmas melhorias nas ruas e uma distância segura e reduzida entre suas moradias? Ou seria uma região onde as condições básicas de existência – como a presença de água limpa, esgoto, serviços e transporte – estivessem disponíveis para toda a comunidade?

De forma ampliada, complexa e, por que não, complicada, a existência de territórios que não legitimam a presença e o protagonismo de pessoas idosas também não o será para quem hoje tem menos de 60 anos. Nos mais diversos contextos apresentados acima, os impactos negativos do idadismo e do capitalismo geram migrações de pessoas adultas, jovens e crianças para outros lugares e, por vezes, para outros municípios e estados do país. Isso porque, nesses locais, as condições de envelhecimento são precárias, criando “vazios intergeracionais ou espaços não acolhedores para as pessoas idosas”, o que resulta em mais violações de direitos.
O Programa Envelhecer nos Territórios foi criado em 2023, conforme a Portaria nº 561/2023, considerando os contextos social, histórico, cultural, demográfico e econômico atual, bem como as evidências e as demandas das pessoas idosas, de movimentos sociais e acadêmicos, das ausências ou ineficiências de programas voltados para esse público, sempre na perspectiva dos direitos humanos. A partir dos diversos territórios presentes em um mesmo município, foram consideradas as
potencialidades e fragilidades territoriais, tanto no que se refere à gestão e à participação social organizada, quanto à presença de equipamentos e serviços públicos, além da força do terceiro setor, ao interesse e à forma de acesso aos serviços e equipamentos privados – enfim, todo o cenário hoje disponível para um cidadão ou cidadã que deseja envelhecer com dignidade. Esse envelhecer, no entanto, não pode ser pensado a partir dos 60 anos, pois, para muitos grupos sociais, a consolidação de vulnerabilidades e acúmulo de discriminações restringirão a efetividade de qualquer bom programa ou política de Estado.
Uma das principais características deste programa é a garantia de melhor acolhimento para a pessoa idosa que sofreu algum tipo de violação, por meio da busca ativa no bairro onde ela reside. Dessa forma, acredita-se na redução do tempo de sofrimento, na agilidade do encaminhamento e no desfecho mais célere das demandas dessa pessoa idosa. Outra característica importante, que visa reduzir sofrimentos, é a possibilidade de ações para a proteção e promoção dos direitos das pessoas de 60 anos ou mais.
Uma das inovações deste programa é a criação dos Agentes de Direitos Humanos, pessoas selecionadas na própria região onde residem as pessoas idosas a serem atendidas. Esses agentes são escolhidos e passam por uma formação teóricoprática antes de iniciar as visitas. A partir desse trabalho, surgem os encaminhamentos e acompanhamento dos problemas identificados. Cada agente poderá atender de 150 a 200 pessoas idosas por ano.
Outro aspecto importante que precisa de aprimoramento contínuo é que o encaminhamento para uma rápida resolução dependente da existência de uma rede de defesa e promoção dos direitos da pessoa idosa. Nesse contexto, o Agente de Direitos Humanos desempenha um papel crucial, conectando os profissionais das áreas de saúde e assistência social, entre outros. Essa rede deve englobar espaços e profissionais das gestões municipais, estaduais, distrital e federal, além das delegacias, promotorias, defensorias, conselhos municipais, estaduais, distrital e nacional, bem como entidades, instituições filantrópicas, privadas e do terceiro setor, todos comprometidos eticamente com a promoção da cidadania e dos direitos das pessoas idosas.
O estímulo da participação social também é um ponto de interesse do Programa Envelhecer nos Territórios. Por meio do incentivo da criação ou fortalecimento de Conselhos Municipais, esse programa vai articulando outros atores sociais importantes para a garantia de direitos das pessoas idosas e prevenção de violações.
Atualmente, o Programa Envelhecer nos Territórios está presente em 43 municípios de 13 estados, abrangendo as cinco regiões do país. A partir dos atendimentos realizados pelos Agentes de Direitos Humanos da Pessoa Idosa, estima-se que o programa atenderá cerca de 114 mil pessoas idosas até o final de 2024. Em razão do desastre climático ocorrido no Rio Grande do Sul, foi criada uma ação especial para apoiar mais de 20 municípios do estado, com a previsão de capacitar 390 agentes para atender 58.500 pessoas idosas que necessitam de atenção imediata. Essa flexibilidade do programa demonstra sua capacidade de se adaptar às demandas específicas dos territórios do nosso Brasil.
O incentivo à gestão local, por meio da institucionalização de um espaço específico para tratar da pauta das pessoas idosas, é também um objetivo do programa. Em centenas de munícipios, há uma sobreposição de ações desenvolvidas para diferentes grupos sociais, como pessoas idosas, LGBTQIA+, negras, mulheres e pessoas com deficiência, que são tratadas em um único local e, muitas vezes, sob a responsabilidade de um único profissional. Isso limita a construção de planos de gestão efetivos para cada um desses grupos sociais.
O estímulo à participação social também é outro ponto de interesse do Programa Envelhecer nos Territórios. Por meio do incentivo à criação ou fortalecimento de conselhos municipais, o programa articula-se com outros atores sociais importantes para a garantia dos direitos das pessoas idosas e prevenção de violações. Tanto o incentivo à gestão local, quanto os conselhos municipais ocorrem por meio de um outro programa já criado no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania: o EquipaDH.
A formação em direitos humanos para as pessoas idosas finaliza as ações centrais do programa. O respeito à biografia e singularidade de cada pessoa idosa participante determinará a adequada proposta pedagógica para a transmissão e troca de saberes construídos em conjunto, visando contribuir para o letramento e, o que é mais importante, para a autonomia da pessoa na busca e na defesa dos seus direitos.
O Programa Envelhecer nos Territórios tem três metas importantes que busca alcançar. A primeira é fortalecer ainda mais o programa com as contribuições advindas das articulações com outros ministérios, visando à construção do primeiro e histórico Plano Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Já é possível perceber, nos municípios onde o programa está em operação, a grande força de indução que estimula outras ações, seja de ministérios, seja das gestões estaduais e municipais, agregando serviços e profissionais para esse trabalho conjunto com os Agentes de Direitos Humanos.
A segunda meta é incluir o programa no grupo de experiências exitosas das Comunidades ou Cidades Amigas da Pessoa Idosa, da Organização Mundial de Saúde (OMS). As negociações já estão em andamento.
A terceira e mais estratégica meta é transformar o programa em uma política de Estado, ou seja, torná-lo mais robusto e estável. Dessa forma, outras gestões poderão aprimorá-lo ainda mais, e as pessoas idosas jamais ficarão sem uma ação que garanta seus direitos, o pleno exercício de sua cidadania e a promoção efetiva de seu protagonismo.
BRASIL. Decreto n. 6.040, de 7 de fevereiro de 2007. Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 1, 8 fev. 2007.
BRASIL. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Portaria n. 561, de 4 de setembro de 2023. Institui o Programa Envelhecer nos Territórios para promover o direito de envelhecer a todas as pessoas e garantir os direitos humanos das pessoas idosas no Brasil. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 33, 5 set. 2023. Disponível em: https://www.gov. br/mdh/pt-br/acesso-a-informacao/ institucional/portarias/portaria-no561-de-4-de-setembro-de-2023. Acesso em: 13 nov. 2024.
BRASIL. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Portaria n. 222, de 3 de abril de 2024. Regulamenta o Programa de Equipagem, de Modernização da Infraestrutura e de Apoio ao Funcionamento dos Órgãos, das Entidades e das Instâncias Colegiadas Atuantes na Promoção e na Defesa dos Direitos Humanos - EquipaDH+. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 28, 4 abr. 2024. Disponível em: https:// www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n222-de-3-de-abril-de-2024-551753610. Acesso em: 13 nov. 2024.
SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. 4. ed. São Paulo: Edusp, 2006.
Alexandre Ernesto Silva Líder da Favela Compassiva Rocinha e Vidigal. alexandresilva@ufsj.edu.br
Bettina Turner Jornalista, responsável pela comunicação da Favela Compassiva Rocinha e Vidigal. turnercom@uol.com.br
Jeane Pereira da Silva Juver Presidente da Associação Favela Compassiva Rocinha e Vidigal. jeanejuver@gmail.com
Matheus Rodrigues Martins Doutorando em enfermagem na Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). matheusrodrigues355@ gmail.com
Raquel Laine Alves Santos Acadêmica de enfermagem da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). raquellaine1721@gmail.com
E será sempre vital e necessário para nós saber que somos todos muito mais do que nossas diferenças, que não é apenas o que compartilhamos organicamente que pode nos conectar, mas o que passamos a ter em comum porque desempenhamos o trabalho de criar comunidade, a unidade dentro da diversidade, que exige solidariedade dentro de uma estrutura de valores, crenças e desejos que sempre transcendem o corpo, desejos que estão relacionados a um espírito universal.
Bell Hooks, Ensinando a comunidade, uma pedagogia da esperança, p. 117.

resumo
Este artigo traz um breve panorama no qual se observa a construção de uma história recente, que se dá no contexto e na singularidade da Associação Favela Compassiva Rocinha e Vidigal, no Rio de Janeiro. Uma iniciativa voltada à implementação dos cuidados paliativos para populações vulneradas em que a questão urgente do rápido envelhecimento da população brasileira se apresenta, gerando implicações significativas na perspectiva da saúde. Com o aumento da longevidade, cresce o índice de doenças crônico-degenerativas com necessidades de cuidado que se tornam imperativas. Envelhecer por si só já é um desafio, mas o desafio se amplifica quando os mais velhos residem em áreas de vulnerabilidade social. Utilizou-se para a elaboração do artigo metodologia empírica e teórica, referências bibliográficas, relatos de experiência e revisão de literatura. São apresentados alguns dados do contexto do envelhecimento e acesso aos cuidados paliativos em populações vulneradas das favelas da Rocinha e do Vidigal, onde o desenvolvimento de comunidades compassivas, associado a políticas públicas específicas, representa uma oportunidade concreta de melhoria no processo de envelhecimento digno e com qualidade.
palavras - chave Cuidados paliativos; saúde do idoso; áreas de pobreza; assistência domiciliar; coesão social.
abstract
This article provides a brief overview in which we observe the construction of a recent history, which takes place in the context and uniqueness of the Associação Favela Compassiva Rocinha e Vidigal, in Rio de Janeiro. An initiative aimed at implementing palliative care for vulnerable populations where the urgent issue of the rapid aging of the Brazilian population arises, generating significant implications from a health perspective. With increasing longevity, the rate of chronic degenerative diseases increases, with care needs that become imperative. Aging is already a challenge in itself, but the challenge is amplified when older people live in areas of social vulnerability. Empirical and theoretical methodology, bibliographic references, experience reports and literature review were used to prepare the article. Some data are presented on the context of aging and access to palliative care in vulnerable populations in the favelas of Rocinha and Vidigal where the development of compassionate communities, associated with specific public policies, represents a concrete opportunity to improve the process of dignified and quality aging.
keywords
Palliative care; health of the elderly; poverty areas; home nursing; social cohesion
Nas projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a expectativa de vida dos brasileiros em 2060 será de 81 anos. Não resta dúvida que o envelhecimento traz desafios que precisam ser pensados por meio de políticas públicas voltadas para o preparo da sociedade a fim de proporcionar uma vida digna aos idosos.
Curiosamente, segundo os dados da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), o envelhecimento populacional ocorre de forma mais acelerada na América Latina e Caribe. Esse dado é de grande importância visto que nessas regiões existe um grande risco de a população não receber atenção às necessidades básicas, de modo a assegurar uma velhice digna e com participação ativa na sociedade.
Algumas doenças são mais prevalentes nas faixas etárias mais elevadas, e algumas delas trazem grande impacto na qualidade de vida dos pacientes: as doenças do sistema cardiovascular, o câncer e as demências (NORONHA, 2023). Segundo a International Association for Hospice and Palliative Care (IAHPC), pacientes com doenças ameaçadoras
à continuidade da vida devem receber um tipo de atenção à saúde denominado cuidados paliativos, que tem como objetivo principal o incremento na qualidade de vida de pacientes, familiares e cuidadores por meio do controle de sintomas nas várias dimensões: física, emocional, social e espiritual.
Na população idosa, esse atendimento em cuidados paliativos torna-se crescente, haja vista o forte acometimento de condições crônicas de saúde e sem possibilidade de cura que ocorre em decorrência do declínio das funções orgânicas, levando-a à circunstância de terminalidade da vida (FRATEZI, GUTIERREZ, 2011).
Por conta dessa complexidade vivenciada por pacientes e familiares, no transcorrer de doenças ameaçadoras da vida, os cuidados paliativos devem ser exercidos por meio de equipes multidisciplinares, a fim de que o indivíduo seja atendido de forma holística.
Este é o foco das ações da Favela Compassiva Rocinha e Vidigal, cuja implementação se tornou referência no Brasil: levar a abordagem dos cuidados paliativos aos pacientes que moram em zonas de alta
1 Disponível em: https:// academic.oup.com/qjmed/ article/106/12/1071/1633982. Acesso em: 30 jul. 2024.
vulnerabilidade, permitindo que sejam cuidados de forma integral e oferecendo apoio também aos respectivos cuidadores e familiares.
Embora em sua essência as comunidades compassivas já existissem de forma natural nas muitas culturas desde o início da convivência humana, suas bases atuais foram resgatadas pelo australiano Allan Kellehear, sociólogo, professor e médico de saúde pública, cujos interesses de ensino, pesquisa e prática se concentram na morte, no morrer e nos cuidados de final de vida. No artigo Cidades Compassivas: Saúde Pública e Cuidados de Fim de Vida1 ele defendeu a ecologia social e as estratégias de desenvolvimento comunitário como componentes elementares de qualquer abordagem de saúde pública em cuidados paliativos.
No entanto, mesmo antes de ter contato com os conceitos de Kellehear, Alexandre Ernesto Silva, enfermeiro paliativista brasileiro, deu início de forma espontânea às comunidades compassivas nas favelas da Rocinha e do Vidigal, no Rio de Janeiro, em 2018, sensibilizado pela realidade social com que se deparou enquanto pesquisava para a sua tese de doutorado sobre cuidados paliativos.
Para além da carência social, o que chamou positivamente a atenção do pesquisador foi a solidariedade que havia entre os vizinhos dentro da comunidade. Os moradores se socorriam mutuamente, compartilhando um prato de comida, buscando um remédio, trocando palavras e olhares conhecedores da mesma realidade. Alexandre vislumbrou ali um potencial a ser estimulado e, em meio a uma realidade dura, o que parecia ser uma teoria distante passou a ser uma prática que vem se tornando um valor essencial para as pessoas da comunidade.
Dentro de uma comunidade compassiva, há o aprendizado e a expansão do sentimento de compaixão. O conceito de compaixão que abrange não somente uma sensação de empatia ou cuidado com a pessoa que sofre, mas que é também uma determinação prática e contínua em fazer tudo o que for possível e necessário para aliviar os sofrimentos dela. “A compaixão como força motriz em prol do alívio do sofrimento humano dentro da comunidade”, segundo Alexandre. Cidadãos juntos criando uma rede que se mobiliza num processo de autocuidado comunitário contínuo. Segundo o mestre tibetano Sogyal Rinpoche:
[...] a compaixão só é verdadeira quando é ativa. Avalokiteshvara, o Buda da Compaixão, é comumente representado na iconografia tibetana com mil olhos que veem a dor es em todos os recantos do universo e mil braços para alcançá-los todos e estender-lhes sua ajuda (RINPOCHE, 2013, p. 256).
COMO FUNCIONA A FAVELA COMPASSIVA
Na prática, não há romantização. As necessidades humanas são permeadas pelos desafios do fazer coletivo, uma vez que saber conviver em comunidade é uma construção sobre a qual a sociedade está caminhando. Por outro lado, já se vê que é possível, pois ações concretas estão dando bons resultados e outras comunidades compassivas inspiradas pelo projeto do Rio de Janeiro foram implementadas em Belo Horizonte, Brasília, Goiás e São Paulo.
O projeto é totalmente sustentado pelo voluntariado, contando com as pessoas residentes na comunidade e com equipes multidisciplinares de profissionais da área da saúde, que formam uma rede de apoio social informal.
A compaixão só é verdadeira quando é ativa.
Avalokiteshvara, o Buda da Compaixão, é comumente representado na iconografia tibetana com mil olhos que veem a dor em todos os recantos do universo e mil braços para alcançá-los todos e estender-lhes sua ajuda.
Importa ressaltar que nada acontece sem a participação dos próprios moradores, os voluntários locais. São pessoas que já atuavam espontaneamente cuidando de seus vizinhos e agora recebem capacitação e recursos para desempenhar com mais eficiência o papel de cuidadores voluntários e se tornam agentes compassivos. Eles passam a identificar as pessoas da comunidade que têm doenças ameaçadoras à vida e que se encontram vulnerabilizadas e depois as acompanham e apoiam, buscando minimizar o sofrimento delas. Ficam atentos também às necessidades de remédios, alimentos e material de higiene, fazendo interface com o sistema de saúde pública local.
Uma vez que o paciente indicado pelo morador local seja elegível para o projeto, entram em cena as equipes multidisciplinares com os profissionais da saúde especializados em cuidados paliativos – também voluntários. Considerando que os cuidados paliativos pressupõem o princípio da multidisciplinaridade da equipe, somado aos princípios da extensão universitária na área da saúde, profissionais de diversas especialidades se juntam para as visitas mensais aos pacientes.
Visando garantir a continuidade do cuidado junto à rede pública de saúde, a Associação Favela Compassiva possui um forte vínculo com a Clínica da Família, que atende à Rocinha e ao Vidigal, fazendo os encaminhamentos necessários e repassando todo o cuidado que foi ofertado a cada paciente.
A partir desta base de sustentação, se estabelece um processo de autocuidado comunitário contínuo, juntamente com a parceria das entidades públicas e privadas locais. A inserção dos cuidados paliativos nas comunidades compassivas não substitui os deveres do poder público e funciona como um braço de apoio.
Além de contar com a participação contínua e comprometida dos agentes compassivos locais e das equipes profissionais, as ações da Favela Compassiva são sustentadas por vários apoiadores que doam recursos financeiros, materiais, medicamentos e suporte de logística.
Diante da necessidade de melhor compreensão sobre a temática dos cuidados paliativos voltados à
pessoa idosa no contexto de comunidades vulneradas de favelas, realizou-se uma revisão de literatura a fim de se conhecer as evidências científicas publicadas no cenário nacional e internacional. Dessa forma, foi realizado um levantamento bibliográfico nas seguintes bases de dados: Biblioteca Virtual de Saúde, SCOPUS, Web of Science e USA National Library of Medicine (MEDLINE/PubMed).
Quanto aos critérios de inclusão abordados nesta pesquisa, utilizou-se artigos disponíveis na íntegra, publicados nos idiomas português, inglês e espanhol, no período de janeiro de 2012 a março de 2022. Adotou-se como critérios de exclusão os artigos duplicados e os manuscritos que não abordaram as temáticas de saúde do idoso e os cuidados paliativos em comunidades vulneradas.
No que se refere à construção da estratégia de investigação, optou-se pela utilização do acrônimo PICo, que se constitui como um método de recuperação de evidências científicas, considerando a população, o paciente ou o problema (P), o fenômeno de interesse (I) e o contexto (Co) (ARAÚJO, 2020).
Esse método permite a

identificação de pesquisas qualitativas alicerçadas nas experiências humanas, bem como os fenômenos sociais envolvidos (STERN, JORDAN, MCARTHUR, 2014). Dessa forma, formulou-se a seguinte questão norteadora: Como estão organizados os cuidados paliativos à pessoa idosa em comunidades vulneradas? Tendo como P: Pessoa Idosa; I: Cuidados Paliativos; Co: Comunidades Vulneradas. Assim, foram utilizados termos controlados por meio dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e Medical Subject Headings (MeSH), bem como termos livres (palavraschave). O levantamento dos artigos encontrados ocorreu nos meses de março e abril de 2022.
Eles passam a identificar as pessoas da comunidade que têm doenças ameaçadoras à vida e que se encontram vulnerabilizadas e depois as acompanham e apoiam, buscando minimizar o sofrimento delas.
As pesquisas encontradas evidenciam que ambientes urbanos segregados e distante dos grandes centros, como os aglomerados urbanos (KAYSER et al., 2014) e as comunidades rurais (ROWER, JOHNSTON, 2022), apresentam barreiras para a implementação e o acesso aos cuidados paliativos. Dentre essas barreiras, destacam-se as características de vulneração, relacionadas às condições concretas de desigualdades sociais, associadas ao perfil sociodemográfico e de segurança pública, de forma que os indivíduos inseridos nesses contextos são incapazes de se defenderem sozinhos e não possuem condições necessárias para o enfrentamento dessas dificuldades com o apoio de instituições vigentes (SCHRAMM, 2008). Entretanto, o cuidado em saúde realizado por meio da participação de indivíduos da comunidade emergiu como potencial modelo para mitigar as disparidades em saúde encontradas nesses ambientes (TZIRAKI et al., 2020; ZAMAN et al., 2017).
No que se refere às características de vulneração relacionadas aos aspectos sociodemográficos, observou-se que muitas delas levam à redução do acesso aos cuidados paliativos, como idade, raça/cor, renda, região
geográfica de habitação, falta de moradia e conhecimento limitado sobre os princípios dos cuidados paliativos, incluindo o saber do paciente e o saber dos profissionais de saúde (ROWER, JOHNSTON, 2022). Assim, pacientes idosos, com baixa renda e baixo status de educação apresentaram maior grau de sofrimento multidimensional no fim de vida, o que inclui sofrimento físico (com controle ineficaz da dor), redução da funcionalidade e maior sofrimento espiritual e social em comparação com pacientes mais jovens e aqueles de famílias com alto nível econômico e com maior escolaridade (MALHOTRA et al., 2020).
Com relação às diferenças raciais, pacientes negros têm recebido menores taxas de cuidados paliativos em comparação a pacientes brancos. Outros determinantes sociais que geram disparidades no acesso aos cuidados paliativos estão relacionados à região geográfica de habitação, com destaque para moradores de áreas rurais que, muitas vezes, apresentam limitações de acesso aos cuidados paliativos por estarem distantes dos grandes centros urbanos. Além disso, a distância geográfica dos grandes centros urbanos apresenta-se como um limitador no que concerne à capacitação profissional, haja
vista a restrição de tempo que os profissionais apresentam para o desenvolvimento e a manutenção dos cuidados paliativos para os moradores dessas áreas (ROWER, JOHNSTON, 2022).
No que diz respeito à falta de moradia, essa vulneração não está relacionada apenas às pessoas em situação de rua, mas abrange aqueles que possuem acomodações transitórias, temporárias e instáveis, que utilizam algum tipo de abrigo ou que estão sujeitos a situações habitacionais precárias. Tais aspectos apresentam-se como barreiras logísticas para a efetivação dessa abordagem de cuidado, uma vez que é preciso lidar com a falta de habitação para receber cuidados domiciliares, falta de telefone para marcação de consultas e falta de transporte para locomoção até as unidades de saúde (PURKEY, MACKENZIE, 2019).
Em relação às questões de segurança pública, um estudo realizado com 33 participantes, incluindo profissionais de saúde, cuidadores e pacientes em cuidados paliativos de cinco comunidades vulneradas, evidenciou que as fragilidades na segurança dos profissionais de saúde para atuarem nesses cenários contribuem para a redução da oferta de cuidados
que proporcionem melhor qualidade de vida. Essas fragilidades também limitam a disponibilidade de opioides e narcóticos, em decorrência da alta criminalidade (KAYSER et al., 2014), ocasionando controle ineficaz do sofrimento físico, como a dor e a dispneia.
A revisão realizada traz alguns dados congruentes com a realidade na qual a Associação Favela Compassiva está situada, nas favelas da Rocinha e do Vidigal, no Rio de Janeiro.
A Rocinha é a segunda maior favela do país, com densidade demográfica de 48,3 mil pessoas a cada km² e população estimada de 72.154 pessoas, segundo o Censo IBGE 2020, embora conste 100 mil habitantes no Censo das Favelas realizado pelo governo fluminense, em 2017, sabendo-se que este número ainda é subestimado, pois muitos moradores nem sequer possuem documentos nem registros, e sua ocupação se deu de forma desordenada na encosta do morro.
A proximidade com as residências de classe média alta desses bairros cria um profundo contraste urbano na paisagem da região. Embora as duas favelas estejam situadas na zona sul da cidade, as pessoas têm muita dificuldade de acesso ao transporte
2 Veja mais em: https:// www.ciespi.org.br/projetos/ concluidos/cartografia/ historico-rocinha-1038. Acesso em: 22 jul. 2024.
público e ao atendimento emergencial, pois carros e ambulâncias têm dificuldades em transitar pelas ruas estreitas, vielas e escadarias. Existem muitas habitações insalubres que carecem de iluminação solar, têm ventilação inadequada, sofrem pela falta de fornecimento de água, luz e saneamento básico, o que favorece a proliferação de doenças e uma alta taxa de casos de tuberculose.2
A pobreza, a falta de infraestrutura, o crescimento desordenado e o acesso precário à saúde e à educação têm gerado mobilizações comunitárias organizadas em mutirões e manifestações que levam a conquistas de algumas melhorias urbanas, como a canalização de valas de esgoto. Em 1982 foi criado o Posto de Saúde Albert Sabin, que era o único em funcionamento para atender a demanda de saúde de toda a comunidade naquela ocasião. Hoje em dia conta-se com mais duas clínicas da família.
A fragilidade nas questões de segurança também se apresenta para que os profissionais de saúde possam atuar nesse cenário. No entanto, no que diz respeito às equipes atuantes na Favela Compassiva Rocinha e Vidigal, a convivência é amistosa, a postura é de respeito aos objetivos do
projeto, os voluntários se movimentam apenas para as visitas domiciliares e com discrição, usando as camisetas com o logo do projeto de forma a serem facilmente identificados e não houve até o momento registro de incidentes.
Diante deste cenário, entende-se que a presença e a função da Favela Compassiva no local se justificam plenamente tanto na Rocinha quanto no Vidigal, que apesar de menor, com 15.112 moradores segundo o Censo de 2020, concentra problemas similares aos da Rocinha.
A Favela Compassiva Rocinha e Vidigal surgiu da necessidade de ofertar cuidados paliativos para a população que reside em comunidades, onde o acesso a esse tipo de serviço era escasso ou inexistente. Conforme supracitado, diversos fatores interferem no acesso aos serviços de saúde, em especial nos cuidados paliativos, como segurança pública, moradia, diferenças raciais e vulneração.
Em locais onde os serviços públicos não atendem de forma necessária às necessidades da população, a vulneração ganha espaço, indo além
do risco (vulnerabilidade).
Desse modo, quanto maior a vulneração, mais necessários se tornam os serviços que busquem oferecer equidade à população. Sendo assim, a população se une em prol de cuidar de si mesma, apoiando e dividindo o que têm com o próximo que está ao seu lado.
O espírito de voluntariado permeia e fortalece as ações do projeto, dessa forma, os moradores voluntários se tornam o coração e a alma do projeto, sendo a ponte entre famílias e pacientes. A própria população faz com que a engrenagem do projeto rode e dessa forma as pessoas possam ser ajudadas e acompanhadas.
Contudo, não se deve romantizar a pobreza e a escassez, visto que essas pessoas, por direito, merecem o acesso aos serviços públicos e não os têm. Entretanto, também não se deve ignorar a resistência e sobrevivência de uma comunidade que atua de forma unida visando cuidar dos seus. Quem cuida hoje sabe que em caso de necessidade, será cuidado amanhã. E, desse modo, o voluntariado cresce e a compaixão também, sendo um a força motriz do outro.
Com o intuito de minimizar as disparidades e ofertar esse cuidado, o projeto atua
capacitando os próprios moradores (voluntários locais) para orientar e apoiar as famílias de pacientes que necessitam desses cuidados. Além de contar com o auxílio de profissionais voluntários e doadores, a iniciativa atua também como projeto de extensão, contando com o apoio dos extensionistas da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio).
O
A escolha do público-alvo da Favela Compassiva Rocinha e Vidigal teve que atender a critérios pré-estabelecidos a fim de contemplar o princípio do atendimento, o modelo por meio do voluntariado e as condições locais. Os pacientes elegíveis para o atendimento via projeto são: pacientes com doenças ameaçadoras à vida e que estejam precisando de cuidados paliativos de forma predominante ou exclusiva.
A forma predominante remete a pacientes que ainda podem receber tratamento modificador da doença, mas precisam de cuidados específicos em mais de 50% do tempo. Em contraste, no modo exclusivo
O espírito de voluntariado permeia e fortalece as ações do projeto, dessa forma, os moradores voluntários se tornam o coração e a alma do projeto, sendo a ponte entre famílias e pacientes.
estão os pacientes para os quais a terapia destinada a alterar o curso da doença foi suspensa ou encerrada, direcionando o foco no controle de sintomas e no alívio do sofrimento.
Os pilares dos cuidados paliativos são controle de sintomas e comunicação, e isso ocorre através do trabalho interdisciplinar das áreas da saúde, para que seja assegurado o maior conforto possível. Desse modo, o atendimento é realizado por meio do trabalho voluntário dos diversos profissionais de diferentes áreas da saúde: médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, farmacêuticos, capelães, odontólogos e outros, visando oferecer acesso à integralidade em saúde para esses pacientes.
Os pacientes são referenciados pelos voluntários locais, que recebem um treinamento específico para identificar aqueles que possam necessitar do cuidado. Após a identificação, o paciente e seu grupo familiar são abordados pelo voluntário local para uma apresentação inicial do projeto e agendamento da primeira visita, que contará com a presença de profissionais voluntários do projeto.
No dia previamente agendado, um breve relato do caso clínico é repassado para o grupo de profissionais, que serão direcionados para a residência do paciente e realizarão o primeiro atendimento e avaliarão se ele atende aos critérios de inclusão.
Mesmo que o paciente não seja admitido no programa, recebe orientações gerais e é incentivado a dar continuidade ao seu tratamento regular.
No caso de o paciente ser eleito a continuar no projeto, as visitas são agendadas mensalmente no contexto de mutirões de atendimento dos profissionais voluntários, com o direcionamento dos profissionais que mais se adequem às necessidades dos sintomas a serem controlados.
Após as visitas, uma nova discussão dos casos clínicos é realizada com o grupo formado por todos os voluntários profissionais e voluntários locais que compõem o mutirão, com o objetivo de incrementar possíveis ações e discutir as necessidades dos pacientes, além do âmbito da saúde física, como a necessidade de auxílios financeiros ou de fraldas e medicações.
O plano terapêutico traçado é repassado ao núcleo familiar (paciente, familiares e cuidadores) e voluntários locais.

Alexandre Ernesto Silva, enfermeiro paliativista brasileiro, deu início às comunidades compassivas
Esses últimos são responsáveis pelo acompanhamento da execução do planejamento e por reportar à equipe de profissionais dúvidas e dificuldades que possam advir durante a prática.
Os atendimentos não excluem a necessidade de atendimento da rede pública de saúde, local (atenção primária) e/ou em outros níveis hierárquicos do Sistema Único de Saúde (SUS).
A necessidade da continuidade no atendimento pelo SUS decorre de não ser o objetivo do projeto uma substituição do sistema de saúde pública pela incapacidade de realização de exames e por não dispor de unidades de atendimentos (ambulatoriais e/ou hospitalares).
Desse modo, a Associação Favela Compassiva (AFC) possui uma relação sólida com o sistema público de saúde, em especial a Clínica da Família, integrando uma rede entre comunidade, SUS e AFC. Para que os cuidados sejam continuados pela unidade pública de saúde, todos os procedimentos e planos terapêuticos realizados são repassados para a Clínica da Família. Sendo assim, quando há necessidade de cuidados específicos, como exames, já é feito o encaminhamento pela equipe de saúde da unidade.
Além da parceria com os serviços públicos de saúde, a área de assistência social (Centro de Referência da Assistência Social – Cras
O exemplo é uma das melhores formas de incentivar o outro a se tornar compassivo no lugar em que vive, saindo de espectador do processo de desigualdade e atuando como
engrenagem da mudança de uma realidade de vulneração.
e Centro de Referência Especializado de Assistência Social – Creas) também possui um forte vínculo com o projeto. Dessa forma, quando tais órgãos públicos encontram pacientes aptos a serem acolhidos pelo projeto, fazem a indicação para início do processo de inclusão. Do mesmo modo, quando há necessidade de a assistência social atuar junto ao projeto e ao sistema público de saúde, são feitos os encaminhamentos necessários.
Recentemente, todo o processo teve um ganho no que tange à execução, ao compartilhamento de informações e à análise de dados com o desenvolvimento do prontuário compassivo.
O prontuário compassivo é uma ferramenta em que os atendimentos são relatados em um programa e salvos em nuvem. Isso trouxe uniformidade e facilidade no acesso às informações dos pacientes, de modo que a orientação dos voluntários e núcleos familiares se tornou mais objetiva e simples. Dentro do prontuário compassivo são registrados os procedimentos realizados nas visitas dos profissionais voluntários, a prescrição de medicamentos que o paciente está seguindo e os sinais vitais que foram
aferidos, entre outras informações. Após as visitas e o preenchimento do prontuário compassivo, é feito o relatório de todos os atendimentos pelo sistema e encaminhado diretamente para a Clínica da Família, alimentando a rede de parceria entre os serviços.
Diante da crescente necessidade de instrumentos sociais com o intuito de minimizar a desigualdade ao acesso à saúde, os exemplos positivos de projetos que estão conseguindo construir essa rede são importantes. O exemplo é uma das melhores formas de incentivar o outro a se tornar compassivo no lugar em que vive, saindo de espectador do processo de desigualdade e atuando como engrenagem da mudança de uma realidade de vulneração.
Desse modo, um dos objetivos da Associação Favela Compassiva é a criação de conteúdo científico ou motivador para que outras comunidades compassivas possam ser iniciadas e mais pacientes possam ser beneficiados pelo modelo.
CUIDADOS PARA IDOSOS ADOECIDOS E VULNERADOS NA FAVELA COMPASSIVA
Heidegger, em Ser e Tempo, tocou na questão do cuidar
por meio da fábula milenar de Higino: o ser humano surge moldado em barro pelas mãos de um ser chamado Cuidado, portanto, enquanto existir o ser humano, ele pertence ao Cuidado, até que volte à terra que é a sua origem (HEIDEGGER, 2012).
O conceito de comunidades compassivas nos religa a essa origem, ao ideal de humanidade e solidariedade, trazendo em sua raiz aquilo que nos é comum: comunidade, compaixão, estar com, fazer com. Leonardo Boff, teólogo, afirma em seu livro Saber Cuidar, que o cuidado se encontra na raiz primeira do ser humano. Ele fala da importância de nos conectarmos com a essência do cuidar. É um relembrar do que já sabemos, é um reaprendizado de um saber ancestral que garante a nossa existência enquanto seres realmente humanos.
Se a ação comunitária é parte da essência humana, cabe-nos resgatar essa capacidade ancestral e fortalecer seu poder para permitir que o desenvolvimento social se torne de fato um movimento consistente em favor de toda a sociedade.
Como já mencionado, na abordagem paliativista os seres humanos são
compreendidos como multidimensionais, portanto, considera-se que o envelhecimento também exige essa atenção integral. A partir desta perspectiva, os cuidados paliativos nas comunidades compassivas de favelas, embora não abranjam somente as pessoas idosas, as incluem, tornando-se naturalmente uma iniciativa positiva para essa parcela da população. Os prontuários compassivos indicam que, na Rocinha, 62,5% dos pacientes atendidos têm renda familiar de até 1 salário-mínimo e 58,8% têm mais de 60 anos. No Vidigal, a fragilidade financeira se mostra ainda maior: 92,3% dos pacientes têm renda familiar de até 1 salário-mínimo e a média de idade se iguala à Rocinha, sendo 58,8% dos pacientes atendidos com mais de 60 anos. Portanto, os idosos representam mais da metade dos pacientes vulnerados com doenças graves em cuidados paliativos na Favela Compassiva. Este fato é relevante para além do tratamento humanizado a que têm acesso e ao alívio da dor nas suas várias dimensões, pois socialmente agrega ganhos relevantes em relação ao envelhecimento não só entre os idosos em cuidados paliativos.
Pode-se aferir que as ações de letramento, psicoeducação, informação e capacitação referentes à saúde que são oferecidas aos agentes compassivos, familiares, cuidadores e abertas a todos os moradores da comunidade se irradiam e expandem o conhecimento, além de gerar atividades inclusivas que têm colaborado com a melhoria da qualidade de vida e a ampliação da consciência do cuidado com o outro e consigo mesmo.
Mensalmente são disponibilizadas capacitações em saúde para a comunidade, em especial para os voluntários locais. Nessas capacitações são abordados temas pertinentes ao cotidiano dos voluntários, cuidadores e familiares de pacientes em cuidados paliativos, como cuidados com a higiene e a pele, alimentação oral e por sondas, entre outros.
Tais capacitações são importantes para aprimorar as práticas diárias da comunidade em contato com esses pacientes, visando transformar a linguagem científica em uma linguagem clara e acessível para todos os públicos e possibilitar que o cuidado ofertado não seja leigo, mas sim treinado e aperfeiçoado com base em técnicas previamente validadas pela ciência.
É necessário ressaltar que a prática de educação em saúde com a comunidade deve refletir a realidade vivida por essa população. A teoria deve ser adaptada para se alinhar à prática real que pode ser oferecida na realidade específica da comunidade, em vez de se manter rigidamente vinculada aos conceitos teóricos.
Estas atividades oferecidas continuamente fomentam discussões e práticas sobre temas relativos ao bem-estar e à saúde, fortalecendo os vínculos comunitários e o sentimento de pertencimento.
O envolvimento social é considerado elemento central do envelhecimento ativo e saudável. Na proposição da política do envelhecimento ativo, a Organização Mundial de Saúde (OMS) enfatizou a otimização da saúde, da funcionalidade, da atividade e da participação social como requisitos para a boa qualidade de vida na velhice (GEORGE, 2011).
Outro ponto salutar são as conversas abertas sobre a morte e os cuidados paliativos – uma mudança de paradigma. Quando se fala sobre a morte nas comunidades compassivas de favelas, trata-se de uma fala sobre morte digna, mas, antes
disso, de uma vida mais digna no processo de evolução da doença até o seu desfecho. Ainda há vida, e é dela que se está cuidando. Vê-se que a população idosa, em princípio mais próxima da finitude que se avizinha, muito se beneficia ao tomar consciência de que a morte digna é um direito de todos. Pesquisas mostram que idosos que têm consciência da morte morrem melhor. Ignorar a morte ou tratá-la como tabu traz mais sofrimento durante o processo de envelhecimento.3
Em 2010, o Brasil foi considerado um dos países com pior qualidade para se morrer, segundo levantamento da publicação The Economist. Há um longo caminho para que se possa mudar este panorama, mas a terra parece estar fértil para enraizar as mudanças.4
No dia 7 de maio de 2024, por meio da Portaria GM/ MS n° 3.681, foi instituída no Brasil a Política Nacional de Cuidados Paliativos (PNCP), que visa trazer verba para que o SUS oferte cuidados paliativos dentro do serviço público de saúde. A instituição da PNCP foi um ganho para a população como um todo, mas principalmente para as pessoas que não conseguem custear os cuidados paliativos (que são necessários para todos aqueles que possuem
3 Disponível em: https:// jornal.usp.br/ciencias/ ciencias-da-saude/ idosos-que-se-preparampara-a-morte-vivemmelhor-mostra-estudo/. Acesso em: 20 ago. 2024.
4 Disponível em: https:// exame.com/mundo/ esses-sao-os-melhores-epiores-paises-do-mundopara-morrer/. Acesso em: 20 ago. 2024.
uma doença que ameace a continuidade da vida), em especial àqueles que estão em fase de final de vida (BRASIL, 2024).
Além de contemplar pontos importantes, como a Diretiva Antecipada de Vontade (DAV), oferta de cuidados paliativos precoce, autonomia do indivíduo, entre outros, a PNCP contempla também as comunidades compassivas, sendo estas definidas como “iniciativas
de cunho voluntário e comunitário destinadas a apoiar pessoas com doenças que ameacem a continuidade da vida e seus familiares” (BRASIL, 2024).
Portanto, as comunidades compassivas, a partir de então, estão asseguradas dentro da Política Nacional de Cuidados Paliativos para receber apoio e fomento, reafirmando o compromisso com a luta pela equidade entre as diferentes realidades sociais presentes no Brasil.

ARAÚJO, W. Recuperação da informação em saúde: construção, modelos e estratégias. ConCI: Conv. Ciênc. Inform. v. 3, n. 2, p. 100-134, 2020.
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS n° 3.681, de 7 maio de 2024. Brasília, 2024.
BOFF, L. Saber cuidar : ética do humano-compaixão pela Terra. Petrópolis, RJ: Vozes, 1999.
CENTRO INTERNACIONAL de Estudos e Pesquisas sobre a Infância – Ciesp. Site. Cartografia. Disponível em: https://www.ciespi.org.br/projetos/ concluidos/cartografia/historicorocinha-1038. Acesso em: 21 ago. 2024.
FRATEZI, F. R.; GUTIERREZ, B. A. O. Cuidador familiar do idoso em cuidados paliativos: o processo de morrer no domicílio. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 16, n. 7, p. 3.241-3.248, 2011.
GEORGE, L. K. Still happy after all these years: research frontiers on subjective well-being in later life. J. Gerontol B. Psychol. Sci. Soc., 2010; v. 65 B(3), p. 331-339.
HEIDEGGER, M. Ser e tempo. Campinas: Petrópolis: Unicamp: Vozes, 2012.
HOOKS, B. Ensinado a comunidade: uma pedagogia da esperança. São Paulo: Elefante, 2021.
KAYSER, K. et. al. Delivering palliative care to patients and caregivers in inner- city communities: Challenges and opportunities. Palliative and Supportive Care, v. 12, p. 369-378, 2014.
KELLEHEAR, A. Compassionate communities: end-of-life care as everyone’s responsibility. QJM: An International Journal of Medicine, v. 106, i. 12, Dec. 2013, p. 1.071-1.075.
MALHOTRA, C. et al. Socio-economic inequalities in suffering at the end of life among advanced cancer patients: results from the APPROACH study in five Asian countries. International Journal for Equity in Health, v. 19, n. 158, 2020.
NAVARRO, M. Idosos que se preparam para a morte vivem melhor, mostra estudo. Jornal da USP, 13 ago. 2008. Disponível em: https://jornal.usp.br/ ciencias/ciencias-da-saude/idosos-quese-preparam-para-a-morte-vivem-melhormostra-estudo/. Acesso em: 21 ago. 2024.
NORONHA, José Carvalho de; CASTRO, Leonardo; GADELHA, Paulo (org.). Doenças crônicas e longevidade: desafios para o futuro. Rio de Janeiro: Edições Livres, 2023. 337 p. Disponível em: https://portolivre.fiocruz.br/doencascronicas-e-longevidade-desafios-parao-futuro. Acesso em: 31 de jun 2024.
PURKEY, E.; MACKENZIE, M. Experiences of palliative health care for homeless and vulnerably housed individuals. J. Am. Board Fam. Med., v. 32, n. 6, p. 858-867, 2019.
ROWER, J.; JOHNSTON, F. Surgical palliative care disparities. Ann Palliat. Med., v. 11, n. 2, p. 862-870, 2022.
RUIC, G. Esses são os melhores (e piores) países do mundo para morrer. Exame, 14 out. 2015. Disponível em: https:// exame.com/mundo/esses-sao-osmelhores-e-piores-paises-do-mundopara-morrer/. Acesso em: 21 ago. 2024.
SCHRAMM, F. Bioética da proteção: ferramenta válida para enfrentar problemas morais na era da globalização. Revista Bioética, v. 16, n. 1, p. 11-23, 2008.
SOGYAL, R. O livro tibetano do viver e do morrer Trad. Luis Carlos Lisboa. São Paulo: Palas Athena, 2013.
STERN, C.; JORDAN, Z.; MCARTHUR, A. Developing the review question and inclusion criteria: The first steps in conducting a systematic review. AJN, American Journal of Nursing, v. 114, n. 4, p. 53-56, 2014.
TZIRAKI, C. et. al. Rethinking palliative care in a public health context: addressing the needs of persons with non-communicable chronic diseases. Prim. Health Care Res. Dev., v. 15, n. 21, 2020.
ZAMAN, S. et al. Palliative care for slum population: a case from Bangladesh. European Journal of Palliative Care, v. 24, n. 4, p. 156-160, 2017.

Hildeana Nogueira Dias Souza Graduada em educação física pela Universidade Federal do Pará (UFPA). Especialista em pedagogia da dança pela FIBRA e em gerontologia pela Faculdade Internacional de Curitiba (Facinter), mestra pelo Programa de Pós-Graduação de Estudos Antrópicos da Amazônia (PPGEAA/UFPA), doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia (PPGSA/UFPA), titulada pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG). Analista da atividade Trabalho Social com Grupos (TSPI Sesc/PA). Membro do movimento Vidas Idosas Importam e Velhices Cidadãs. hildeanageronto@gmail.com
resumo
A Festividade de São Benedito, realizada na cidade de Bragança no mês de dezembro, na Amazônia paraense, reúne uma multidão de fiéis que ao longo dos dias participa de vários ritos que fazem parte desse ritual maior, dentre os quais está a marujada – o mais importante – em que a capitoa possui um papel de destaque. O objetivo deste trabalho é descrever a estrutura da marujada e analisar as percepções das marujas neste ritual no qual se destaca a capitoa. Os dados etnográficos resultam de parte da pesquisa realizada para conclusão da dissertação de mestrado. Na análise, utilizamos conceitos de poder, festa e ritual: a festa é pensada como um evento que contém uma estrutura, regras, símbolos e significados (GUARINELLO, 2001; SILVA, 2013; PEREZ, 2012); o ritual é aqui pensado enquanto “sistemas culturalmente construídos de comunicação simbólica” (PEIRANO, 2003); e o exercício do “poder” é pensado como prática na sociedade que se sustenta pelo jogo de relações entremeadas por interesses e anseios de prestígio (WEBER, 1982). Na conclusão, mostramos que a capitoa exerce papel fundamental na organização dos ritos, expressão do feminino e também de autoridade, pois todos(as) a reconhecem como uma mulher, velha e comandante da marujada.
palavras - chave Marujada; Bragança; marujas; capitoa.
abstract
The São Benedito Festival held in the city of Bragança, in the Amazon of Pará, in the month of December, brings together a crowd of faithful who throughout the day participate in various rites that are part of this larger ritual, among which is Marujada, the most important, where the Captain, plays a prominent role. The objective of this work is to describe the structure of the marujada and analyze the perceptions of the marujas in this ritual where the Capitoa stands out. The ethnographic data results from part of the research carried out to complete the master’s thesis. In the analysis we use concepts of power, party and ritual, where the party is thought of as an event that contains a structure, rules, symbols and meanings; (GUARINELLO, 2001; SILVA, 2013; PEREZ, 2012); ritual is thought here as “culturally constructed systems of symbolic communication” (PEIRANO, 2003) and also thinking about the exercise of “power” as a practice in society and which is sustained by the game of relationships interspersed by interests, desires for prestige (WEBER, 1982). In conclusion, we show that the Captain plays a fundamental role in the organization of the rites, expression of the feminine and also of authority, as everyone recognizes her as a woman, old and commander of the Marujada.
keywords Marujada; Bragança; sailors; captain.
O município de BragançaPará, localizado na região denominada Bragantina, abriga uma grande manifestação religiosa chamada Festa de São Benedito, que ocorre no mês de dezembro. A exemplo de outras festas populares de caráter religioso que acontecem no Brasil, a festividade de São Benedito compreende um conjunto de atividades rituais que tem seu momento de ápice no mês de dezembro, mas que se inicia do mês de abril com as saídas dos santos, quando os fiéis e devotos, de forma individual ou coletiva, fazem oferendas para agradecer a São Benedito pelas graças alcançadas. Essas atividades podem possuir características sagradas ou religiosas, e também profanas.
Esta festa contém em sua estrutura uma série de pequenos rituais, como a procissão, as missas, o arraial, a chegada da última comitiva1 de esmoladores ou, ainda, a alvorada, que é a queima de fogos no momento em que o mastro é hasteado. A marujada, que se tornou o principal destaque da festa, e é considerada como uma das principais manifestações de cultura popular que ocorrem na região, se destaca como o espaço onde são fortalecidos os laços de solidariedade e o
sentido de comunidade entre os participantes, simbolizados pela parceria que existe entre a capitoa e as marujas. Assim, tanto a Festa de São Benedito quanto a marujada são duas manifestações que são acionadas para a afirmação da identidade dos moradores de Bragança, na medida em que contribuem para a construção de um sentimento de pertença, ou de “bragantinidade”2 (FERNANDES, 2011).
A festa, como um todo, pode ser considerada como uma celebração coletiva que marca um momento de passagem na vida dos fiéis devotos de São Bendito e que se aproxima do que Van Gennep chama de um rito de calendário (2011). Os moradores de Bragança – ao criar esses intervalos na vida social (LEACH, 1974), realizando esses rituais que fazem parte de um calendário de manifestações de cunho religioso e também profano, como a festa de São Bendito e a marujada, que são anuais (PRADO, 2007) – atribuem significados aos rituais e também criam um tempo social (ELIAS, 1998) para celebrar, reforçar laços de solidariedade e de troca de dádivas, tanto entre os fiéis como entre eles e o santo.
O objetivo deste trabalho é descrever e analisar o protagonismo da mulher velha na marujada, que é um ritual
1 Há três comitivas (comitiva do santo dos campos, das colônias e da praia) que, durante grande parte do ano (abril a novembrodezembro), realizam esmolações em áreas geográficas determinadas. A comitiva do santo da praia é a última a chegar, no dia 8 de dezembro, e vem pelo rio Caeté, desde a vila do Camutá, comunidade que se situa na outra margem do rio, onde foi erguida a primeira capela para São Benedito. É um dia muito simbólico (FERNANDES, 2011).
2 Fernandes (2011) usa esse termo em seu livro, citando o poeta Gerson Guimarães, para se referir à identidade dos moradores de Bragança.
que acontece dentro da Festa de São Bendito, com destaque para a personagem da capitoa. A capitoa exerce papel fundamental na organização e realização desse ritual, podendo ser considerada como uma personagem que contém atributos considerados como característicos do gênero feminino, como a dimensão estética e, ao mesmo tempo, agrega atributos culturalmente associado ao masculino, como o exercício da autoridade e “poder”, pois as demais personagens lhe reverenciam e a reconhecem como comandante da marujada. A análise pretende mostrar o lugar que as mulheres ocupam na marujada, especialmente sobre o protagonismo da capitoa e das marujas, procurando demonstrar como as mulheres se percebem e qual é o significado do personagem maruja que elas protagonizam no ritual.
O material etnográfico analisado resulta de um recorte de pesquisa realizada entre os anos de 2020-2023 para elaborar uma dissertação de mestrado (SOUZA, 2021), cuja coleta ocorreu a partir da realização da observação participante, que permitiu a convivência e a aproximação com os sujeitos principais que realizam a Festa de São Benedito em distintos momentos da festividade e a realização de
entrevistas formais e informais. Dentre as interlocutoras estão sete mulheres-marujas que participam ativamente da produção, organização e realização dos ritos dessa festividade.
Para realizar a análise desses rituais buscamos nos situar no debate que envolve a discussão sobre o conceito de festa e ritual, destacando o conceito de festa pensado como um evento que contém uma estrutura, contém regras e apresenta um conjunto de símbolos e significados que são utilizados para reforçar elementos da vida de uma coletividade, expressando sua identidade (GUARINELLO, 2001; SILVA, 2013; PEREZ, 2012); o de ritual como “sistemas culturalmente construídos de comunicação simbólica” (PEIRANO, 2003); e o exercício do poder como prática na sociedade que pode ter algumas roupagens que se sustentam pelo jogo de relações entremeadas por interesses e anseios de prestígio (WEBER, 1982).
Na antropologia, vários autores se debruçaram na abordagem dos ritos como parte da estrutura social de determinadas comunidades e como parte da dimensão simbólica e de valores que formam a cultura
dessas comunidades. Dentro de uma sociedade complexa, algumas formas de expressão e de celebração religiosa que buscam reverenciar e celebrar o sagrado – materializado na figura dos santos que fazem parte do panteão da religião católica – têm sido denominadas como manifestações de cultura popular, caracterizadas por serem uma forma de expressão de certos grupos que não dominam ou controlam os espaços de produção hegemônica de símbolos e valores que formam uma determinada sociedade. O estudo sobre essas manifestações, como as festas em homenagem aos santos católicos, desperta crescente interesse de pesquisadores, uma vez que se busca estudar as pluralidades culturais tomando os espaços tradicionais e o universo simbólico, tornando-se material de análise de sistemas de crenças, costumes, saberes e relação com o sagrado e expressando o modo de vida de determinadas sociedades. Autores como Durkheim, Lévi-Strauss, Edmund Leach ou, ainda, Mariza Peirano, contribuíram com a construção da teoria de ritual na antropologia, nos levando a pensar o ritual como uma possibilidade para compreender aspectos da vida social, como a maneira de pensar e viver, aproximando esses dois polos, o

que fica claro em Leach ao dizer que ritual serve para dizer coisas sobre o modo de vida de social.
Peirano (2006, p. 10) chama a atenção para a natureza coletiva dos rituais que “podem ser vistos como tipos especiais de eventos, mais formalizados e estereotipados, mais estáveis e, portanto, mais suscetíveis à análise porque já recortados em termos nativos”. Esses rituais, por serem estruturados, são ricos materiais para a análise antropológica dos modos de vida dos que neles estão inseridos e no meio em que estão inseridos, pois os ritos e outros comportamentos sociais não se separam, eles revelam os conflitos e as visões de mundo dos grupos onde ocorrem. Neste trabalho, ao analisarmos a marujada e o contexto maior que é a Festa de São Benedito, estamos buscando os sentidos que esses ritos possuem para seus praticantes, compreendendo as visões que permeiam o universo cultural desses ritos.
Tomamos aqui a discussão de Peirano (2003) sobre ritos, quando a autora procura mostrar que, na visão da sociedade moderna, ritual é considerado um fenômeno ultrapassado, com noções negativas. Na sua análise ela procura destacar o quanto os rituais estão presentes nas representações sociais rotineiras, não ocorrendo apenas
em eventos extraordinários. Situa a antropologia como a disciplina capaz de analisar as “tonalidades e nuanças” (p. 7) a respeito do ritual, mostrando como o conceito de ritos se pautou na dicotomia entre comportamentos racionais, utilitários e profanos de um lado e não racionais, místicos e sagrados de outro, sendo os últimos considerados ultrapassados por alguns autores, enquanto outros acreditavam ser uma possibilidade de explicar as formas de sociabilidade. Posicionados desse lado estavam Durkheim e Marcel Mauss (p. 13), para os quais rituais e representações eram indissociáveis e determinantes na vida de uma sociedade. Portanto, a sobrevivência de um ritual depende de uma comunidade unida em torno de determinados valores.
Ainda segundo Peirano (2003), outro importante autor a discutir ritos e mitos foi LéviStrauss, que também faz a analogia mito-representações ao evidenciar a racionalidade nos povos “primitivos” e, assim como Durkheim, posiciona de um lado as ações, de outro o pensamento; uma antinomia do ser humano: o viver e o pensar. Um autor que trouxe novas contribuições para esse debate foi Edmund Leach (1996), que a partir de Durkheim, Mauss e também Lévi-Strauss, avança na
discussão sobre o conceito de mito e ritual, os considerando como sendo a mesma coisa e defendendo que pensamos e vivemos de forma similar, ou seja, para Leach “ritual é uma declaração simbólica que diz alguma coisa sobre os envolvidos na ação” (p. 76).
Para este trabalho, considerando os rituais como um complexo de palavras e ações, uma espécie de linguagem, nos termos de Peirano, buscamos compreender a partir do olhar “nativo” o que o ritual da marujada diz para quem dele participa e para quem o observa.
A Festividade de São Bendito é organizada desde 1798 pela igreja católica em atuação conjunta com a Irmandade da Marujada de São Benedito de Bragança, que é responsável pela organização da marujada (ALENCAR, 2013). Essa organização polarizada (religiosa e profana) gerou uma série de conflitos entre essa irmandade –cuja origem remonta às antigas irmandades constituídas no Brasil Colonial. Elas tinham um duplo objetivo: por um lado, foram criadas como espaços de devoção para catequizar os(as) negros(as) e mantê-los(as) sob controle e, por outro, se configuravam como espaços
de resistência e preservação cultural por parte dos(as) negros(as) (MIRANDA, 2006).
Segundo Carvalho (2010), a Irmandade do Glorioso São Benedito de Bragança (doravante IGSBB), formada em 1879, era uma irmandade para negros(as) escravizados(as) fruto de uma identificação devocional compartilhada. A permissão para organizar essa instituição em Bragança em louvor ao Santo Preto como espaço de devoção despertou nos(as) escravizados(as) um sentimento de gratidão que foi demonstrado através de danças à porta dos senhores, o que se tornou ritual após repetição anual. Sobre isso descreve Carvalho (2010, p. 78):
Mais especificamente no dia 03 de setembro de 1798, a pedido de 14 escravos, os senhores permitiram que fosse organizada a Irmandade da Marujada de São Benedito de Bragança. Em gratidão à graça alcançada, os escravos saíram às ruas de Bragança dançando em frente às casas de seus senhores, fazendo exibições coreográficas. Tal fato repetiu-se com novos agradecimentos nos anos seguintes dando origem à marujada, manifestação atrelada à Festa de São Benedito, comportando o sagrado popular.
O ritual tem como característica a existência de uma estrutura (PEIRANO, 2002). A festa de São Benedito é um ritual que contém uma estrutura formada por vários eventos menores, que são realizados ao longo do ciclo da festa, numa série de etapas, dentre as quais estão danças que são organizadas hierarquicamente. Este é o caso da marujada, que apresenta uma estrutura matriarcal, em que a capitoa comanda os marujos e as marujas que passeiam pelo salão realizando uma série de passos de dança que, ao longo dos anos, passaram a fazer parte do ritual. Ressaltamos que o ritual da marujada realizado em Bragança difere de outras manifestações que possuem o mesmo nome e acontecem em outras regiões do país, e tem como foco principal em sua estrutura a representação de um auto.
A dança da marujada é realizada há exatamente de 225 anos, e na sua estrutura se observam elementos do catolicismo popular e elementos que remetem à cultura de povos de origem africana, buscando estabelecer uma aproximação entre o sagrado e o profano. Segundo Silva (2006), a marujada é o nome que se dá a um conjunto de atividades e danças que são organizadas e apresentadas em ordem ritualmente determinada durante
a Festa de São Benedito, tais como a mazurca, o retumbão, a roda, o chorado e o xote. Sua origem é resultado de um hibridismo cultural que contém elementos de danças de origem europeia, indígenas e africana. No contexto da Festividade de São Benedito é o elemento de caráter profano de maior destaque.
A festa tem início no dia 18 de dezembro com a alvorada e encerra-se no dia 31, mas algumas atividades ocorrem durante todo o ano, como a esmolação – que é realizada por três comitivas formadas com devotos que saem pela cidade pedindo doações para o santo no período de abril a novembro –, assim como outros rituais que a compõem e cujas apresentações ocorrem em outros espaços/lugares, mas se intensificam no período compreendido entre 18 e 31 de dezembro e são considerados como sendo o da festa propriamente dita. No dia 18 de dezembro são realizados os rituais que Silva (2003) define como o início da festividade, ocasião em que as marujas usam trajes azuis e realizam a dança da roda, acompanhadas pelos músicos, em frente à igreja, dando início à alvorada.
Nos dias 25 e 26 a festa tem a sua maior relevância, assumindo uma forma extraordinária, como é o caso
da alvorada, da levantação do mastro, do leilão, da procissão e da marujada, realizada no barracão3 da festa, no dia 25, e que possui um caráter dramático, mas também lúdico e de cunho estético (GONÇALVES e CONTINS 2008). No dia 26, quando é realizada a procissão de São Benedito, as marujas participam de forma especial ao estarem trajadas com seus suntuosos vestidos vermelhos e chapéus ornados com fitas coloridas, saindo pelas ruas de Bragança para prestar homenagens ao santo (FERNANDES, 2011).
O termo dança é usado localmente para se referir à marujada, sendo comum ouvir alguém dizer que vai “dançar a marujada”. Dançar a marujada é uma forma de comemorar uma graça alcançada, homenagear São Benedito pela sua intercessão entre deus e o promesseiro. Segundo Carvalho (2010 p. 85):
A dança ritual apresenta uma renovação na esperança e devoção ao santo, ao mesmo tempo que é um rito cotidiano enriquecido por um rito extraordinário, possuidor de um destaque social e podem ser consideradas ‘como resultado das experiências como um todo, vividas num contínuo de todo o ritual’.
3 Espaço onde marujos e marujas se reúnem para participar do ritual da dança da marujada em honra a São Benedito. “Espaço de disciplinaridade e reafirmação do grupo; onde se interpenetram as relações de saber e de poder, uma vez que, por mais livre que seja a dança, ela apresenta regras, limites demarcatórios” (SILVA, 2003). É o espaço onde também ocorrem os ensaios das danças durante o período que antecede a festa, considerado aqui como espaço importante por ser propício à intensa sociabilidade.
Na marujada nos chama a atenção a presença majoritária de mulheres velhas, tanto na organização da festa quanto na realização das danças, e por ocuparem os principais cargos que estão no topo da hierarquia.
A dança da marujada é um espaço de devoção aberto a todos que desejem participar, com observância de algumas regras. Cabe à capitoa zelar pela obediência às regras, que funcionam como códigos de conduta (geralmente morais) e possibilitam a integração e participação nos rituais; assim como a repreensão daqueles que as descumprem, sendo que todos devem acatá-las. Como mostra Peirano (2006), todo ritual comporta uma estrutura e uma ordem, ou seja, há um início, um desenvolvimento e uma conclusão. Todos que dele participam conhecem a sequência de ações e sabem onde e como termina. Na marujada, cabe à capitoa garantir que essa estrutura seja seguida e que também sejam observados as hierarquias e o cumprimento das regras.
Para Carvalho (2010), o conjunto de danças que formam a marujada, e que são apresentadas sequencialmente –a roda, o retumbão, o chorado, a mazurca, a contradança e o xote – contém elementos da cultura dos colonizadores europeus e também traços da cultura de povos de origem africana.
Na ordem de apresentação das danças, é a roda que inicia o momento ritual, simbolizando a solicitação de permissão para dar início às apresentações.
A roda é formada apenas por
mulheres-marujas que têm à frente uma maruja, denominada “cabeça de linha”. Sua execução consiste na formação de uma roda em que os dançantes executam gestos e movimentos circulares. A capitoa e a vicecapitoa circulam no centro, observando suas marujas.
Na marujada nos chama a atenção a presença majoritária de mulheres velhas, tanto na organização da festa quanto na realização das danças, e por ocuparem os principais cargos que estão no topo da hierarquia. Elas também são destaque até nos ritos mais importantes da Festa de São Benedito, como a procissão que ocorre no dia 26, onde sua presença se faz perceber pela suntuosidade dos trajes, compostos de saias longas com cores que variam de acordo com o dia da festividade (azul ou vermelho), com chapéu ornado de penas de pata brancas e de fitas coloridas que se estendem quase até o chão, sendo uma dessas fitas na cor preto, para simbolizar a cultura negra de onde se originou a dança da marujada. O traje dos homens é simples, geralmente de uma única cor, o branco, assim como o chapéu branco que possui apenas uma fita vermelha como adorno (alguns marujos usam um espelho como adorno no chapéu).
Embora não tenham o controle político da festa, pois ele está nas mãos de pessoas que pertencem às famílias de maior poder aquisitivo de Bragança (CARVALHO, 2010), nesse momento da festa, principalmente durante a realização da procissão e da marujada, as mulheres são as principais personagens. Portanto, podemos afirmar que se trata de um ritual em que as mulheres ocupam os cargos situados no topo da hierarquia, sugerindo a presença de elementos do matriarcado, no qual todos(as) são comandados(as) pela capitoa.
No entanto, as honras sociais, para Weber, podem ser distribuídas em alguns grupos de uma sociedade, o que chamamos de ordem social. Essa ordem é a forma como os bens e serviços são distribuídos. Assim, a ordem social e a ordem econômica se influenciam e se complementam para constituir os fenômenos de distribuição de poder dentro da comunidade. Além dos três tipos puros de poder (legal, tradicional e carismático), Weber enfatiza que o poder não necessariamente seria uma consequência da ordem econômica, pelo contrário, o aparecimento do poder econômico pode ser consequência do poder existente por outros motivos. Para Weber (1982, p. 211): “O
homem não luta pelo poder apenas para enriquecer economicamente”, mas luta pelas honras sociais que podem emanar das relações de poder estabelecidas, apesar de nem todas essas relações promoverem honras sociais. A honra e o prestígio podem ser a base para o surgimento do poder econômico e político.
A partir de entrevistas4 realizadas com sete mulheres na faixa etária de 60 a 74 anos, todas marujas associadas ou não à Irmandade da Marujada de São Benedito, foi possível analisarmos suas percepções a respeito da presença das mulheres e da capitoa na marujada, como se segue na análise abaixo (SOUZA, 2021). Os dados foram coletados durante pesquisa de campo realizada em Bragança no mês de dezembro de 2020, antes e durante a Festa de São Benedito.
Maruja Esmolação, 64 anos, participa como maruja há 28 anos e enfatiza que com a chegada do mês de dezembro as mulheres iniciam os preparativos para a festa, que consiste na realização dos ensaios para as apresentações que ocorrem nos dias 25 e 26 de dezembro. Na fala da maruja, fica evidente uma percepção da participação na festa e na marujada como um momento não apenas de devoção,
4 Atribuí nomes fictícios a todos os entrevistados, conforme termo de compromisso firmado e conforme prevê uma pesquisa baseada na ética e na confiança entre pesquisador e sujeitos da pesquisa.
pagamento de promessas e realização de oferendas a São Benedito, ou seja, um tempo de estabelecer contato com o sagrado, mas também como um momento de diversão, porque ocorre o encontro de mulheres de vários lugares do Brasil, que transformam o barracão de ensaios e outros espaços da Festa de São Benedito em lugares de reencontros, de vivência de momentos de alegria e também de fortalecimento dos laços de solidariedade e de companheirismo entre as marujas: “[...] é uma alegria pra gente, quando chega o dia do ensaio, do derradeiro ensaio, no dia 24. A gente se encontra, no ensaio geral, tá todas as marujas, de longe e de perto. A gente se abraça e a gente se gosta, sabe? Uma irmandade que a gente se ama”.
Outra mulher entrevistada foi Maruja Artesã, 74 anos, que também partilha dessa visão sobre o significado da marujada para as mulheres que dela participam, como um ritual que favorece a criação de espaços de convivência, de encontro e união: “[...] chega nossas festas é tempo que a gente se une [...] é mais união. Acabou a festa acabou a união. A gente se separa, vai pra um canto, vai pra outro. Aí pronto, aí só se vê no tempo de novo da marujada, no tempo da gente se unir de novo”.
Assim, a festa é um tempo de encontro, de união e de celebração, marcada por intensa sociabilidade, no sentido atribuído por Simmel (1989), seja nos momentos que antecedem a realização dos rituais ou das danças, seja durante sua execução. Mas, se no presente a Festa de São Benedito permite a criação de espaços que favorecem a sociabilidade, a aproximação das pessoas que procedem de diferentes lugares, e que após as celebrações se dispersam, no passado esse ritual reunia pessoas que se consideravam parte de uma instituição, a Irmandade de São Benedito, que era marcada por laços de solidariedade, reciprocidade e de vínculos outros que extrapolavam o campo da religião e alcançavam a identidade étnica e cultural. Portando, as mudanças que se observam hoje indicam uma perda histórica do sentido original dos ideais que davam sentido à irmandade, pois significa que a união que ocorre durante a festa se contrapõe ao tempo da desunião, como destaca a fala da Maruja Artesã.
A marujada não é apenas esse momento de solidariedade, de reforçar laços sociais ou de diversão, de alegria, ela é, sobretudo, um momento de devoção, em que ocorre o pagamento de dádivas, das promessas feitas para São
Benedito, e da graça alcançada, que se torna uma dádiva no sentido atribuído por M. Mauss (1974). Para Maruja Esmolação, o ato de dançar na marujada está relacionado ao pagamento de uma dádiva, e por isso ela tem um significado especial: “Significa que é promessa, né? A gente fazendo uma promessa pra, enquanto for viva, sair [vestida] de maruja. A gente tem que cumprir”.
Para Maruja Dançarina, 60 anos, maruja há seis anos, participar da marujada tem o mesmo significado atribuído acima pela Maruja Esmolação, ou seja, como forma de pagar uma promessa: caso fosse curada de uma enfermidade, ela seria maruja até o fim de sua vida. Portando, a devoção a São Bendito, que permite a realização de um pedido e o pagamento de uma promessa, norteia a vida desses sujeitos, tornando-se parte de seu cotidiano, das suas ações, e um elemento fundamental na construção de sua identidade individual e coletiva.
Com relação à importância da presença das mulheres na festa, Maruja Tradição, 71 anos, enfatiza o papel da capitoa como sendo uma autoridade que, segundo ela, “manda e desmanda aí”. Maruja Esmolação também reconhece a importância dessa participação das mulheres,
representada principalmente pela personagem da capitoa, “a gente sente que é mandada por ela. A gente é mandada por ela e pelo Careca, que é presidente das marujas”. Na sua fala percebe-se que, embora a capitoa seja uma figura central, ela parece estar subordinada a um homem, que é o presidente da marujada.
Maruja Promesseira, 69 anos, também ressalta o papel de destaque da capitoa como comandante, que detém poderes para organizar a festa, chamar a atenção dos participantes para a obediência às regras e para dar conselhos: “e aí chama a gente atenção, ela dá os conselhos. A gente tem de ouvir os conselhos dela, não fazer o que a gente quer...”.
Na estrutura atual que possui a Festividade de São Benedito, é difícil imaginá-la sem a marujada e, do mesmo modo, é difícil pensar a marujada sem as mulheres que formam a comissão de frente, que comandam a procissão e dão início à realização da festividade.
Maruja Tradição considera que as mulheres são tudo dentro da organização da marujada, e afirma que “sem as mulheres não existe a marujada”. Ela também ressalta o papel da indumentária feminina como item do ritual cuja dimensão
Com relação à importância da presença das mulheres na festa, Maruja Tradição, 71 anos, enfatiza o papel da capitoa como sendo uma autoridade que, segundo ela, “manda e desmanda aí”.
estética (GONÇALVES e CONTINS, 2007) dá maior atratividade visual à festa. Quanto maior for o uso de acessórios e enfeites coloridos, maior será sua beleza.
[...] o que eu posso te dizer é que as mulheres é tudo dentro da organização. Porque sem as mulheres não existe marujada. [...] Elas que são foco da marujada, tanto os homens e as mulheres, porque faz o ritual bonito, a saia principalmente, a sua roupa, o semblante da sua vestimenta, seu chapéu, a sua veste, né? E aquilo que você usa, seus colares, suas pulseiras. Quanto mais arrumada, bonita é.
Essa interlocutora ressalta a tradição que é repassada de mãe para filha, nos contando com visível orgulho que sua mãe é a maruja mais antiga, e nos permitindo compreender que o sentimento de “bragantinidade” está fortemente associado à marujada. Como bem define uma maruja: “Isso é uma raiz que vem no sangue”, ao se referir a esse sentimento como se fosse algo nato, ou seja, que fizesse parte da essência do bragantino.
A percepção de que a marujada não existe sem as mulheres-marujas, vistas enquanto instituidoras dos rituais, nos é evidenciado
na fala de Maruja Tradição, quando ele considera a mulher como o principal elemento da marujada, através da figura da capitoa, que é considerada a maior liderança da festa:
O símbolo é a capitoa, porém as demais mulheres assumem um papel muito importante, pois são elas que iniciam as danças e a procissão. Além da sua presença ter importância estrutural, são as marujas, com suas saias rodadas e seus chapéus, que dão as cores, a graça e a beleza a todo o evento.
A fala da maruja nos ajuda a compreender a estrutura organizacional e os procedimentos metodológicos da organização da festa, e perceber que esse processo organizacional também passa pelo consenso e aprovação das mulheres, em especial da capitoa e vice-capitoa. Maruja Festa entende a marujada como uma organização matriarcal em que as mulheres têm participação fundamental. Para ela a indumentária feminina é um elemento que tem imensa relevância, e a capitoa é a peça mais importante, porém considera que no processo de poder de decisão político a tradição feminina foi enfraquecendo, situando a representação feminina mais como simbólica que como ativa no poder de decisão.
Atualmente os homens são os maiores responsáveis pela estrutura organizacional da festa, assim como a igreja:
Eu acho que já foi muito mais expressiva que hoje. Mas as mulheres, elas têm uma participação, digamos, que é fundamental no processo de organização, no processo de indumentária. Mas na organização estrutural da coisa, da produção da festa, eu acho que com o tempo foi se perdendo, aí ficou muito a cargo dos homens, a cargo da igreja. E quando a gente fala em igreja a gente fala nos padres, não nas freiras, que elas não participam, né? Então acho que as mulheres acabaram sendo esquecidas ao longo do tempo. Perderam o posto de organizadoras mesmo, da capitoa ser peça fundamental, apesar de ainda ser, mas não politicamente falando.
Weber estabelece que o poder é a imposição da vontade de uma pessoa ou instituição sobre os indivíduos. Quando alguém tenta, pela força física, estatal, legal ou de autoridade, impor a sua vontade sobre indivíduos, essa pessoa está exercendo o poder. Nas palavras de Weber, “poder significa toda probabilidade de impor a própria vontade numa relação social, mesmo contra resistências, seja

qual for o fundamento dessa probabilidade”. Desse modo, o poder independe da aceitação das pessoas do exercício da vontade. “Quando o exercício do poder parte de um indivíduo, ele tem o alcance menor, a menos que esse indivíduo represente o Estado. Quando o exercício do poder parte do Estado, ele alcança um maior número de pessoas e tem uma maior chance de ser um poder legítimo.”
Para Maruja Devoção, as mulheres possuem um papel de destaque na marujada, tanto na composição quanto na organização e no comando. Ou seja, são as mulheres que fazem a festa.
[...] a marujada, ela é feita e composta pelas mulheres, então o papel das mulheres é o papel bem simples, bem ímpar. Por que eu digo ímpar: porque são elas que comandam, são elas que faz a festa. Nós temos uma capitoa, é ela que comanda, ela que dá as ordi. Nessas danças ela que finda as danças e sempre ela tá a frente da marujada.
Como é possível perceber, na visão feminina, as mulheres se atentam mais para o sentido devocional e logo se reportam à capitoa como referência do feminino na festa.
Neste trabalho procuramos mostrar que a realização da marujada contribui para criar um sentimento de solidariedade e comunidade, que é reforçado pela parceria que existe entre a capitoa e as marujas. A capitoa exerce papel fundamental na organização dos ritos e as marujas se reportam a ela como referência do feminino na festa e, para além disso, todos(as) reverenciam e reconhecem a capitoa como comandante da marujada, ela que exerce uma relação de “poder” entre as relações existentes na manifestação.
Além disso, a participação na festa e a observação dos seus elementos – sejam os ensaios no barracão, ou andar descalços pelas ruas na procissão junto e igual às marujas, como faziam os antigos escravizados –permitiram perceber que sai a irmandade como organização tradicional de (ex)escravizados e, no contexto atual, tem-se um sentimento de irmandade que está vinculado não somente aos apoios ou conselhos entre ‘capitoa e marujas, mas também àquilo que faz com que as pessoas venham se encontrar em Bragança em dezembro, vindas das mais diferentes localidades para renovar seus laços culturais com essa tradição bicentenária.
ALENCAR, L. F. (Des)silenciando os rastros da marujada de São Benedito em crônicas da revista Bragança Ilustrada. Nova Revista Amazônica, v. 1, n. 1, p. 48-67, jan.-jun. 2013.
CARVALHO, Gisele Maria de Oliveira. A festa do “Santo Preto”: tradição e percepção da Marujada Bragantina. Dissertação (mestrado) – Centro de Desenvolvimento Sustentável, Universidade de Brasília, DF, 2010.
CORRÊA, E. Mulheres marujas de Bragança: percepções do lugar do feminino na Marujada de Bragança – Pará. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Federal do Pará, Castanhal, 2014.
CRUZ, Teresa Cristina de Carvalho. As irmandades religiosas de africanos e afrodescendentes. Revista PerCursos, v. 8, n. 1, p. 3-17, jan.-jun. 2007.
ELIAS, N. Sobre o tempo. Rio de Janeiro: Zahar, 1998.
FERNANDES, J. G. S. Pés que andam, pés que dançam: memória, identidade e região cultural na esmolação e Marujada de São Benedito em Bragança (PA). Belém: Eduepa, 2011.
GONÇALVES, J. R. S.; CONTINS, M. Entre o divino e os homens: a arte nas festas do Divino Espírito Santo. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 14, n. 29, p. 67-94, jan.-jun. 2008.
LEACH, E. R. Repensando a antropologia São Paulo: Perspectiva, 1974.
LEACH, E. R. Os sistemas políticos da Alta Birmânia. São Paulo: Edusp, 1996.
MAUSS, M. Ensaio geral sobre a dádiva. Forma e razão da troca nas sociedades arcaicas. In: Antropologia e sociologia, v. II. São Paulo: Edusp, 1974.
MIRANDA, E. S. Negras raízes: fé, liberdade e resistência na Irmandade de São Benedito em meados do século XIX em São Paulo. Dissertação (mestrado) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2006.
SILVA, C. R.; SANTIAGO, E. Q.; TRINDADE, J. R. T.; MELLO, N. F.; PALHETA, R. C. A.; FERNANDES, R. S.; AMARAL, O. Marujada(s): a tradição ainda resiste. In: Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, XXXIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, Caxias do Sul, 2010.
PEIRANO, M. Temas ou teorias? O estatuto das noções de ritual e de performance. Disponível em: http://www.marizapeirano. com.br/artigos/2006_temas_ou_teorias. htm. Acesso em: 25 jul. 2024.
PORFÍRIO, Francisco. Dominação para Max Weber. Site: Brasil escola, UOL. Disponível em: https://brasilescola.uol. com.br/sociologia/dominacao-para-maxweber.htm Acesso em: 10 jul. 2023.
SCOTT, Jhon (org.). Sociologia: conceitos-chaves. Rio de Janeiro: Zahar, 2010.
SILVA, D. B. R. Os donos de São Benedito: convenções e rebeldias na luta entre o catolicismo tradicional e devocional na cultura de Bragança, século XX. Dissertação (mestrado) – Programa de Pós-Graduação em História Social da Amazônia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2006.
SILVA, Jair Francisco Cecim da. Glossário da marujada. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Pará, Belém, 2003.
SOUZA, Hildeana Nogueira Dias. Corpo velho no retumbão da marujada: des/ com/passos antrópicos Bragantinos. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Pará, Programa de Pós-Graduação em Estudos Antrópicos na Amazônia, Castanhal, 2021.
VAN GENNEP, A. Os ritos de passagem. São Paulo: Vozes, 2013.
WEBER, Max. Ensaios de sociologia H. H. Gerth e C. W. Mills (ed.), 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 1982.
Carmen Pineda Nebot Grupo de Trabalho Clacso: Espaços Deliberativos e Governança Pública da Universidade Federal do Viçosa (Gegop/UFV). carmenpinedanebot@hotmail.com
Ana D’Arc Martins de Azevedo Universidade do Estado do Pará (Uepa). azevedoanadarc@gmail.com
Carla Joelma de Oliveira Lopes Grupo de Pesquisa Conhecimentos e Práticas Educacionais de Populações Quilombolas (Eduq/Uepa). carlajoelma@gmail.com
Eduardo Silva dos Santos Grupo de Pesquisa Conhecimentos e Práticas Educacionais de Populações Quilombolas (Eduq/Uepa).
resumo
Este artigo traz reflexões sobre o envelhecimento em quilombos. Metodologicamente, é um artigo de levantamento bibliográfico. Entre os resultados destaca-se que, no caso dos trabalhadores idosos quilombolas, alguns estiveram à margem do sistema produtivo durante todo o percurso de vida e, ao serem formados nesse processo junto à grande massa de trabalhadores informais, nunca tiveram registro em Carteira de Trabalho e na Previdência Social, pois foram excluídos da possibilidade de crescimento profissional e de melhoria na qualidade de vida. E como conclusão, em territórios quilombolas, em geral, se destacam queixas sobre as políticas de assistência aos idosos sempre associadas ao descaso e à ineficiência do atendimento à saúde. O socorro médico em momentos de urgência praticamente não ocorre e isso se deve a alguns fatores associados: i) a inexistência ou não funcionamento efetivo de unidades de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS) dentro das comunidades quilombolas; ii) a falta de ações e intervenções relacionadas à saúde dos idosos quilombolas; iii) o desconhecimento sobre os processos que cruzam saúde e doença entre os idosos quilombolas; iv) o racismo estrutural; v) o distanciamento geográfico, entre outros.
palavras - chave Envelhecimento; quilombo; Brasil.
abstract
This article presents reflections on aging in quilombos. Methodologically, it is a bibliographic review article. Among the results, it is noteworthy that, in the case of elderly quilombola workers, some were marginalized from the productive system throughout their lives and having been part of the informal workforce, they were never formally registered in the Brazilian Work and Social Security Card system, as they were excluded from the possibility of professional growth and improvement in quality of life. In conclusion, complaints about elderly care policies in quilombola territories generally stand out, often linked to neglect and inefficiency in health care. Medical assistance in emergencies practically does not occur, due to some associated factors: i) the non-existence or ineffective functioning of SUS (Brazilian Unified Health System) service units within quilombola communities; ii) the lack of actions and interventions related to the health of elderly quilombolas; iii) the lack of knowledge about the processes that cross health and disease among elderly quilombolas; iv) structural racism; v) geographical distance, among others.
keywords Aging; quilombo; Brazil.
Os avanços médicos e técnicos aumentaram a esperança de vida da população mundial e se somarmos a isso o declínio da taxa de natalidade, encontramos um envelhecimento significativo da população. O envelhecimento se tornou uma das transformações sociais mais significativas do século XXI, com consequências para quase todos os setores da sociedade, incluindo os mercados de trabalho e financeiros, a procura de bens e serviços – como habitação, transportes e proteção social –, bem como a estrutura familiar e os laços intergeracionais.
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a proporção de idosos no mundo deverá atingir cerca de 12% em 2030 e 16% em 2050. Em 2030, espera-se que mais de 1,4 bilhão de pessoas tenham 60 anos ou mais no mundo, e a grande maioria delas viverá em países de baixo e médio rendimento (OMS, 2021).
O ritmo do envelhecimento da população, contudo, difere entre países. Por exemplo, a França teve quase 150 anos para se adaptar à mudança populacional, sendo que a proporção de pessoas com 60 anos ou mais aumentou de 10% para 20%. Mas, países
como o Brasil, a China e a Índia terão pouco mais de 20 anos para conseguir a mesma adaptação (OMS, 2015).
No Brasil, em pouco mais de 10 anos, o percentual de idosos na população total aumentou de 10,8% para 15,8%, uma diferença de cinco pontos. Houve um aumento de 56% no número de idosos desde o censo de 2015 até o censo de 2022. O maior grupo é a população de 60 a 64 anos e o grupo com maior crescimento relativo é o de 65 a 69 anos.
O Brasil é um país grande, com grandes diferenças tanto em tamanho quanto em desenvolvimento de uma área para outra, portanto, embora o número de idosos esteja crescendo em todo o país, isso não acontece igualmente em todas as regiões ou em todas as áreas. O crescimento da população idosa está mais concentrado nas regiões Sudeste (17,6%) e Sul (17,6%), e menos na região Norte (10,4%), ou seja, nas regiões com maior nível de desenvolvimento. Os estados com maior proporção de idosos são Rio Grande do Sul (20,2%), Rio de Janeiro (18,8%) e Minas Gerais (17,8%), e aqueles com menor proporção são Roraima (7,9%), Amapá (8,4%) e Amazonas (9,1%), todos da região Norte.
Para contribuir com algum conhecimento sobre o tema, apresentamos o envelhecimento no Brasil e em seguida falaremos sobre o envelhecimento em quilombos; e, por fim, são formuladas algumas conclusões.
Até meados do século XX, o Brasil apresentava baixa expectativa de vida ao nascer e alta taxa de natalidade, situação que vem mudando nas últimas décadas como pode ser visto na Figura 1. O percentual de idosos passou de 3,2%, em 1970, para 10,9%, em 2022.
O percentual de população idosa tem crescido em todas as faixas etárias, especialmente naquelas entre os 65 e os 69 anos, que aumentou três pontos, como se pode verificar na Figura 2. No estado do Pará, o percentual da população idosa é inferior à média do país, com seis pontos a menos. Mas mantém o crescimento por faixas etárias, sendo a população entre 60 e 69 anos a maior (GP, 2023).
Contudo, como apontamos anteriormente, existem diferenças no índice de envelhecimento entre os estados da federação1
1. Variações na População entre 1970-2022. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
faixa etária (em milhões de pessoas) em 2010 em 2022
2. Percentual por Faixas Etárias entre 2010-2022. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
1 Este índice representa o número de pessoas com mais de 60 anos em relação a um grupo de 100 crianças e jovens de 0 a 14 anos. Quanto maior o valor deste indicador, mais idosa é a população.
Figura 4. Distribuição dos Idosos por Cor ou Raça no Pará em 2023. Elaboração dos autores. Dados: Pará em Números, 2023.
Esse índice era 80 para todo o Brasil em 2022. Nos estados do Norte, que sofreram menor variação e têm índice menor, a maioria dobrou o percentual de 2010 para 2022. O estado do Amazonas é o que, em 2022, tem o índice mais baixo (33,2%), seguido pelo estado do Pará (44%). Os que têm índice mais alto são do Sul, com Rio Grande do Sul na liderança (115%), seguido por Rio de Janeiro (105,9%), Minas Gerais (98,7%) e São Paulo (95,4%). O que demonstra a importância das condições socioeconômicas da população para o envelhecimento.
Quanto à distribuição dos idosos por cor ou raça no Brasil, na Figura 3 podemos observar que, embora a população branca não seja maioria entre toda a população, ela é maior entre a população idosa, passando de 43% para 51%. Por outro lado, no caso dos pardos, a diminuição é significativa, de 45% para 38%. O que mostra que, embora o Brasil seja um país de negros e pardos, a velhice é dos brancos. São eles que têm maiores probabilidades de envelhecer, e isso se deve às diferenças e desigualdades que existem entre eles.
No caso do Pará, a situação é muito semelhante à do resto do Brasil. A população branca vive mais tempo na velhice do que a população de outras raças ou cores.
As razões para essas diferenças têm a ver com as condições socioeconômicas, que causam desigualdades significativas. A Investigação Nacional da Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua é uma importante fonte de dados para analisar essas condições da população brasileira.
Segundo dados da Pnad Contínua de 2022, a taxa de analfabetismo entre os idosos (16%) é quase o triplo da taxa entre a população acima de 15 anos (5,6%), sendo maior entre as mulheres idosas (16,3%). No caso dos idosos negros (23,3%) é mais que o dobro dos idosos brancos (9,3%). No que diz respeito ao analfabetismo entre os idosos, as diferenças entre as regiões são maiores do que as que existem entre a população em geral, sendo o Sudeste a região com a menor taxa (8,8%) e o Nordeste a região com a maior taxa (32,5%). A região Norte, onde está localizado o estado do Pará, tem 23,5%.
Quanto ao tipo de trabalho dos idosos, verificamos que muitos deles têm empregos informais, sendo esse número maior na região Norte e principalmente no estado do Pará, onde 7 em cada 10 pessoas estão nessa situação. Esse cenário é melhor
percebido quando se sabe que cerca de 2,3 milhões de idosos receberam o Benefício de Prestação Continuada (BPC)2 em 2022 (10,6% do total de idosos do país), sendo a ocorrência do maior número de pessoas beneficiadas na região Norte (19,2%).
Nos últimos anos, registou-se um aumento de 28,7% no número de idosos beneficiários do BPC, passando de 1,8 milhão em 2013 para 2,3 milhões em 2022, como se pode verificar na figura seguinte.
2 Benefício que o Estado concede aos idosos cujo rendimento por pessoa do grupo familiar seja igual ou inferior a 1/4 do salário-mínimo.
Figura 5. Idosos com Benefícios do BPC no Brasil em 2022. Elaborado pela Coordenação-Geral de Informatização e Estatística do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (CGIE/MDHC). Dados do BPC do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Região Norte
Região Nordeste
Região Sudeste
Região Sul
Região Centro-Oeste
Em relação a outros serviços dirigidos a pessoas idosas, como os Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas), destinados a famílias e pessoas que se encontram em situação de risco social ou cujos direitos foram violados, encontramos uma realidade semelhante às anteriores. A região Norte é, juntamente com a região Centro-Oeste, a que possui o menor número de centros, como pode ser observado na Tabela 1. Além disso, a maioria dos Creas (99,8%) está localizada na zona urbana e apenas 0,2% na zona rural, o que significa que os idosos que vivem na zona rural, como é o caso das comunidades quilombolas, não contam com esse serviço.
Outro aspecto muito importante em que a população negra tem sofrido historicamente condições mais desfavoráveis que a população branca é o da saúde. Para tentar reverter esse quadro, o Ministério da Saúde desenvolveu, em 2006, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN), lançada em 2009. Entre essa data e 2021 –tomando como referência os dados das informações básicas municipais do IBGE (MUNICS, 2018 e 2021) –, 47% (2.645) das ações da PNSIPN foram incluídas, em algum momento, em planos municipais de saúde, o que significa que metade dos municípios nada fez. As novas diretrizes estabelecidas pelo novo governo Lula para alcançar um SUS mais justo, decisivo e com políticas mais transversais focadas na saúde da população negra e indígena é um passo para alcançar resultados, embora sempre ocorra uma dificuldade de implementação das medidas no Brasil.
Embora os quilombos sejam mencionados na PNSIPN, suas especificidades de saúde não são observadas na própria política de equidade e nem há registro de políticas estaduais de saúde quilombola. Para concretizar uma política de saúde específica para os quilombos com a participação de seus integrantes, foi
convocada, em maio de 2023, a I Conferência Nacional de Saúde Quilombola Livre com o lema “A saúde quilombola como política pública: em defesa da democracia, do direito à terra e por um novo modelo de saúde dentro dos territórios quilombolas”. Nela foi decidida a criação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da População Quilombola em três níveis, com foco prioritário na atenção básica em base territorial, respeitando os saberes e as práticas da ancestralidade assistencial e as tradições da medicina tradicional.
A seguir o envelhecimento em quilombos e suas questões.
No último censo de 2022, pela primeira vez o percentual da população branca é inferior (43,5%) a de pardos (45,3%), que juntos com a população negra (10,2%) somam 55,5% da população. Porém, quando analisamos os dados sobre envelhecimento, descobrimos que os brancos são a maioria. Embora pardos e negros representem a maioria do país, as pessoas desses grupos, segundo o estudo Desigualdade Social por Cor ou Raça no Brasil, publicado pelo IBGE no final de 2022, são as que menos têm acesso
à educação e dependem mais do trabalho informal, duas situações que limitam o acesso a direitos básicos, como o salário-mínimo e a aposentadoria. Algo que também foi apontado por Alexandre da Silva, secretário nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, que afirma que a população negra tem mais possibilidade de acumular discriminação por causa da cor da pele, local onde mora, classe social, gênero etc. Essas discriminações reduzem a possibilidade de acesso à saúde, ao trabalho e à educação, e geram estresse porque esse recorte populacional não sabe como irá pagar as despesas, o que vai comer ou se vai conseguir um emprego.
Mas não só existem diferenças nos percentuais da população idosa por território, também existem devido a circunstâncias socioeconômicas ou educacionais e até étnicoraciais, e essa desigualdade presente no Brasil é claramente vista na expectativa de vida das pessoas.
As desigualdades sociais e o racismo estrutural e institucional são responsáveis pela deterioração do processo de envelhecimento, como indicou Lucas Gabriel Marins no artigo digital Envelhecer no Brasil Não É Igual para Todos.
Embora os quilombos sejam mencionados na Política Nacional de Saúde
Integral da População Negra (PNSIPN), suas especificidades de saúde não são observadas na própria política de equidade e nem há registro de políticas estaduais de saúde quilombola.
As comunidades quilombolas têm sofrido forte discriminação e negligência durante anos, tornando-se invisíveis para as administrações públicas, que não têm conseguido satisfazer suas necessidades, algo que é percebido até mesmo na ausência de trabalhos acadêmicos sobre o assunto.
Partimos do princípio de que muitos dos desafios enfrentados nos territórios quilombolas contemporâneos foram construídos ao longo do tempo. Questões como a seguridade territorial, a preservação da identidade étnica, a garantia da qualidade de vida, o direito à saúde e à educação e, sobretudo, o envelhecimento da população quilombola, objeto de nosso estudo, demandam entendimento a partir de lentes que considerem a gênese do processo de formação social desses grupos. De acordo com Gomes (2015), os quilombos materializam histórias complexas de ocupação territorial que envolvem a constituição de territórios, a preservação da cultura material e imaterial, os usos destinados às terras ocupadas ancestralmente, as relações de pertencimento e parentesco que se constituíram historicamente, entre outros.
Atualmente o IBGE calcula, em um processo de projeção
a partir do censo de 2010, que em 2019, 5.972 localidades quilombolas seriam registradas no país. A redefinição do domínio territorial e dos direitos culturais assegurados na forma da lei configura uma conquista significativa para os grupos quilombolas e define, como afirma Treccani (2006), outras e novas formas de interlocução entre as comunidades quilombolas e o poder público. O processo de reconhecimento territorial requer o cumprimento de algumas exigências formais e a adoção de certos procedimentos legais necessários para garantir a titulação definitiva da terra.
As etapas percorridas pelo reconhecimento territorial e étnico de diversas comunidades quilombolas têm configurado um longo caminho de lutas e disputas territoriais com alto grau de complexidade. Um processo marcado por avanços e recuos em que não raramente estão presentes incertezas, discordâncias internas, interesses divergentes, burocracias etc. Em relação à questão da luta territorial, é preciso recordar que para quilombolas a terra não é recurso, é meio de vida.
O domínio territorial, mesmo representando uma grande conquista, tem de vir acompanhado de outras
políticas que garantam a permanência dos moradores em suas terras-territórios. A exclusão social e o racismo experenciados pela população quilombola se materializam, também, na precariedade estrutural vivida nos quilombos, muito embora, do ponto de vista legal, exista um bom planejamento.
Além da relação com a terra, a educação quilombola configura um aspecto crucial da preservação da identidade étnica e territorial do grupo. Os desafios configuram-se, assim, no sentido da desconstrução de uma prática perversa que leva quilombolas a não se sentirem parte dos espaços educativos, uma vez que a escola e seus conteúdos não são reconhecidos pelo grupo e que, inversamente, os saberes locais são invisibilizados e desprestigiados. A educação tradicional provoca, dessa forma, um distanciamento entre a comunidade e o universo escolar, produzindo uma leitura de mundo esquizofrênica, “[...] isso tem efeitos danosos para o quilombo, uma vez que resulta na redução da escolaridade [...]” (MASCARENHAS & MASCARENHAS, 2019, p. 44).
A saúde quilombola, assim como os demais aspectos do cotidiano existencial, tem sido responsável por uma desigualdade grave:
O olhar positivo para a velhice reforça uma tradição ancestral em que o velho é encarado como portador de conhecimentos, guardião das memórias coletivas, e essa visão é compartilhada em diversos territórios quilombolas.
a ausência do direito ao envelhecimento. Em um estudo que discute a percepção da pessoa idosa sobre a velhice na comunidade quilombola de Jambuaçu (Moju/PA), vimos que, em geral, os quilombolas não enxergam a velhice de forma negativa, a maioria a considera como um privilégio que, na atualidade, tem sido desfrutado por poucos (ALENCAR et al., 2023). O olhar positivo para a velhice reforça uma tradição ancestral em que o velho é encarado como portador de conhecimentos, guardião das memórias coletivas, e essa visão é compartilhada em diversos territórios quilombolas.
Esse cenário, contudo, tem se transformado sob a égide das mudanças provocadas pelo avanço do capital ao se analisar o cenário amazônico. “Na Amazônia do período atual, estamos diante de usos desiguais e contraditórios do espaço por grandes projetos minerais, hidroelétricos, agropecuários, dentre outros, e povos e populações indígenas, quilombolas, ribeirinhas” (NAHUM & SANTOS, 2016, p. 348). Assim, de um lado estão os interesses do capital ligados ao cenário nacional, internacional e local e de outro, os povos que ali habitam e que, movidos por intensa divulgação dos benefícios ofertados pelos empreendimentos, com eles acabam se envolvendo.
A adequação de serviços de saúde na atenção dos idosos em comunidades quilombolas é muito precária. Faltam, segundo Lopes e Paixão (2019), políticas públicas mais assertivas e, sobretudo, a efetivação das que já foram construídas.
Em territórios étnicos produzir, cultivar, coletar e criar configuram práticas cotidianas constituintes de uma territorialidade específica, uma vez que elas revelam sujeitos sociais atravessados por identidades históricas e sociais afins e um modo de vida marcado pelo uso comum da natureza, pelo estabelecimento do trabalho a partir da organização familiar e pela presença de fortes vínculos de pertencimento, solidariedade e cumplicidade (LOPES, 2017).
Em geral essas comunidades expressam a unidade entre terra de trabalho e terra de família. Além disso, é comum que o trabalho seja ritmado pelo local, que predomine o uso sobre a propriedade, que a renda venha predominantemente do trabalho na terra, que ocorra pluriatividade, que haja baixa integração com a cidade, que a atuação das igrejas seja forte e que despontem associações e sindicatos como ferramenta de manutenção do grupo.
ALENCAR, Maria Leonice da Silva de; AZEVEDO, Ana D’Arc Martins de; PINEDA, Carmen; SANTOS, Eduardo da Silva. A percepção da pessoa idosa sobre a velhice em uma comunidade quilombola paraense. In: PINEDA, Carmen; COSTA, Silvia; ROIG, Rosa; MONDRAGÓN, Elvira; MARTINS, Simone (org.). Políticas públicas sobre el envejecimiento. Viçosa, Minas Gerais: UFV, IPPDS, 2023.
GOMES, Flávio dos Santos. Mocambos e quilombos: uma história do campesinato negro no Brasil. 1ª ed. São Paulo: Claro Enigma, 2015.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Desigualdade social por cor ou raça no Brasil, 2022.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munics), 2018.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munics), 2021.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, 2022.
LOPES, Elisângela Domingues Severo; PAIXÃO, Cassiane de Freitas. Os cansaços e golpes da vida: os sentidos do envelhecimento e demandas em saúde entre idosos do quilombo Rincão do Couro, Rio Grande do Sul. Psicologia: Ciência e Profissão, v. 39, 2019.
LOPES, Carla Joelma de Oliveira. O território quilombola de Araquembaua, Baião-PA. 2017. 141 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Pará, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Belém, 2017. Programa de Pós-Graduação em Geografia. Disponível em: <http://repositorio.ufpa.br/jspui/ handle/2011/9406>. Acesso em: 28 ago. 2024.MASCARENHAS, Carlos Alberto de Souza; MASCARENHAS,
MASCARENHAS, Carlos Alberto de Souza; MASCARENHAS, Mayre Dione Mendes da Silva. Pedagogias em quilombos: diálogos, embates e desafios pelo desenvolvimento do território. In: SOUZA, Simone de Freitas Conceição; LOPES, Carla Joelma de Oliveira; MASCARENHAS, Carlos Alberto de Souza. Negritudes em tempos de cólera. 1 ed. Jundiaí, São Paulo: Paco Editorial, 2019.
NAHUM, João Santo; BASTOS DOS SANTOS, Cleison. Geografia do dendê na Amazônia paraense. In: SILVA, C. N; SILVA, J. M. P; ROCHA, G. M; BORDALO, C. A. L (org.). Produção do espaço e territorialidade na Amazônia Belém: GAPTA/UFPA, 2016.
SILVA, Mayre Dione Mendes. Pedagogias em quilombos: diálogos, embates e desafios pelo desenvolvimento do território. In: SOUZA, Simone de Freitas Conceição; LOPES, Carla Joelma de Oliveira; MASCARENHAS, Carlos Alberto de Souza. Negritudes em tempos de cólera. 1 ed. Jundiaí, SP: Paco Editorial, 2019.
TRECCANI, Giralomo Domênico. Terras de quilombo: caminhos e entraves do processo de titulação. Belém. Secretária Executiva de Justiça. Programa Raízes, 2006.
1 Uma versão ampliada deste artigo, compõe a obra Velhices: perspectivas e cenário atual na Pesquisa Idosos no Brasil. São Paulo: Edições Sesc: FPA, p. 46-63, 2023.
Naylana Rute da Paixão Santos
Psicóloga graduada pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). Professora assistente na Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP). Mestra e doutoranda em psicologia do desenvolvimento pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Especialista em saúde da pessoa idosa pela EBMSP. naylanarute@hotmail.com
resumo
A feminização da velhice é caracterizada pelo aumento expressivo do número de mulheres em processo de envelhecimento e consequente chegada à velhice. Este fenômeno decorre da maior mortalidade masculina e do aumento da longevidade feminina, o que não significa, necessariamente, melhor qualidade de vida para essas mulheres que envelhecem. Este ensaio teórico se propõe a refletir sobre as desigualdades de gênero a partir dos dados da pesquisa do Sesc/SP em parceria com a Fundação Perseu Abramo. As reflexões deste artigo consideram que o envelhecimento de mulheres ocorre de maneiras diversas, considerando aspectos intersecionais como raça e classe. Sendo assim, entende-se que as trajetórias de vida das mulheres reverberam em seu envelhecimento, pois a posição desigual das mulheres idosas tem raízes históricas, tema ainda pouco discutido, sobretudo pela naturalização das desigualdades que as alcançam. Impõe-se, com urgência, a necessidade de evidenciar esta pauta nos debates sociais e nas políticas públicas, considerando as “mulheridades” que compõem o cenário brasileiro.
palavras - chave Feminização da velhice; envelhecimento; mulheres; intersecionalidade.
abtract
The feminization of old age is characterized by a significant increase in the number of women in the aging process and the consequent arrival of old age. This phenomenon arises from higher male mortality and increased female longevity, which does not necessarily mean a better quality of life for these aging women. This theoretical essay aims to reflect on gender inequalities, based on research data from Sesc-SP in partnership with Foundation Perseu Abramo. The reflections in this article consider that women’s aging occurs in different ways, considering intersectional aspects such as race and class. Therefore, it is understood that women’s life trajectories reverberate in their aging, as the unequal position of elderly women has historical roots, a topic that is still little discussed, especially due to the naturalization of the inequalities that affect them. There is an urgent need to highlight this issue in social debates and public policies, considering the ‘women’ that make up the Brazilian scenario.
keywords Feminization of old ag; aging; women; intersectionality.
O envelhecimento populacional e a consequente mudança no perfil etário da população são fenômenos sociais relevantes, sobretudo por salientarem a heterogeneidade de trajetórias de vida que, por sua vez, está relacionada a aspectos históricos, políticos, econômicos e sociais. Neste contexto, é importante ressaltar a “feminização da velhice”, entendida como um crescimento expressivo de mulheres “envelhescentes”, em contraposição ao número menor de homens na população em envelhecimento. Ressalta-se que chegar à velhice não significa, necessariamente, ter melhor qualidade de vida, ao contrário, existem muitas idosas, sobretudo as negras de classe baixa, cuja chegada à velhice é marcada por opressões, sobrecarga, adoecimento físico e psíquico (SANTOS, 2020; SANTOS & RABELO, 2022b).
O presente ensaio discutirá a feminização da velhice, baseando-se em dados da pesquisa intitulada Idosos no Brasil II: Vivências, Desafios e Expectativas na 3ª Idade, realizada pelo Serviço Social do Comércio de São Paulo (Sesc/SP) em parceria com a Fundação Perseu Abramo, no ano de 2020. O referido estudo consultou 4.144 pessoas, subdivididas em não idosos (adultos entre 16 e 59 anos) e
idosos (maiores de 60 anos). Os(as) participantes foram selecionados(as) em cinco macrorregiões do Brasil, contemplando 234 municípios urbanos de pequeno, médio e grande portes. Ressalta-se que o mencionado estudo foi também realizado no ano de 2006, no entanto, a pesquisa atual do Sesc/ SP apresentou um novo olhar sobre os fenômenos também pesquisados na primeira edição.
Entre os dados de pesquisa relevantes para o debate aqui proposto, destaca-se o alto percentual da população feminina, representando 52% da população brasileira, sendo um número expressivo também na população idosa, cujo percentual alcançou 56%, conforme dados do estudo. No que se refere à raça, 43% das mulheres se declararam pardas e 36% brancas. Outras 15% se declararam pretas, 2% amarelas e 1% indígena. A expressividade do número de mulheres na população envelhescente é um fenômeno que merece atenção, não apenas pelo aumento numérico e significativo de mulheres em relação aos homens, mas por ressaltar a diversidade das realidades e as desigualdades das vivências, que o torna complexo (CEPELLOS, 2021). Deste modo, uma expressão que toma sentido neste
debate é o de “mulheridades”, abrangendo as múltiplas vivências femininas que compõem o cenário brasileiro e envelhecem atravessadas por marcadores raciais, de gênero e classe, rompendo com a ideia essencialista de “ser mulher”, incluindo modelos não hegemônicos, como as mulheres transgêneras (NASCIMENTO, 2021).
Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2018) apresentam que as mulheres possuem maior expectativa de vida em relação à população masculina. Enquanto os homens possuem uma expectativa de vida de 72,8 anos, as mulheres possuem uma expectativa de vida de 79,9 anos (o que não significa, necessariamente que elas envelheçam com melhor qualidade de vida). A estimativa é de que no ano de 2060 a população com 65 anos ou mais seja de 25,5%. Projeções estatísticas globais indicam que, em 2050, mulheres a partir de 65 representarão 54% da população mundial (UNITED NATIONS, 2019).
É de suma importância ressaltar que a idade, para as mulheres, se constitui um duplo prejuízo, conforme aponta Cepellos (2021), tendo em vista que mulheres velhas frequentemente sofreram discriminação etária já em
A expressividade do número de mulheres na população envelhescente é um fenômeno que merece atenção, não apenas pelo aumento numérico e significativo de mulheres em relação aos homens, mas por ressaltar a diversidade das realidades e as desigualdades das vivências, que o torna complexo.
idades mais jovens, se comparadas aos homens como, por exemplo, nas dificuldades de inserção no mercado de trabalho. Deste modo, a autora defende que a feminização não se relaciona exclusivamente às mulheres idosas (60+), mas atinge as mulheres que estão em processo de envelhecimento e ainda não chegaram aos 60 anos.
Ocorre que as dificuldades relacionadas ao processo de envelhecimento de mulheres são pouco debatidas e, quando acontecem, tratam a realidade dessa população de maneira homogênea (CEPELLOS, 2021). Infelizmente, observa-se que mulheres idosas enfrentam muitos obstáculos advindos de uma sociedade sexista e gerontofóbica e, desta maneira, é importante pautar a feminização da velhice numa perspectiva ampliada e intersecional, visto que a reflexão sobre aspectos como raça, gênero, escolaridade, renda, orientação sexual, entre outros pontos, desmistifica a ideia de homogeneidade do envelhecimento da população (SANTOS, 2020; SANTOS, LOPES & NERI, 2007).
Além desses aspectos, Moura (2019) pontua que ao considerarmos a influência direta e indireta dos aspectos socioeconômicos, culturais,
raciais e de gênero nos modos de envelhecer, salienta-se o quanto este segmento populacional vivencia os retratos das desigualdades estruturais da sociedade. Conforme Britto da Motta (2010), a maioria dos estudos limitam-se a incluir aspectos como raça/etnia, bem como classe social e por vezes orientação sexual, no entanto, ignoram interseções analíticas tais como gênero, idade e geração. Os dados estatísticos e estudos demonstram o quanto as questões de gênero salientam as desigualdades vivenciadas pelas mulheres. Essa desigualdade se estende a diferentes áreas da vida, entre as quais podemos citar trabalho, educação, saúde, papéis familiares e acesso aos equipamentos sociais, entre outros aspectos.
No que tange à responsabilidade pelo domicílio, a pesquisa do Sesc/ SP e Perseu Abramo (2020) apresentou como resultado que cerca de sete em cada dez entrevistados com mais de 60 anos afirmaram ser o principal responsável pelo domicílio (68%). O destaque para esse público são os homens (63%), contra 40% das mulheres. Ainda que em menor percentual, é importante destacar o número significativo de mulheres figurando como chefes de
domicílio, quadro que vem sendo cada vez mais frequente, tanto por uma modificação na esfera da inserção das mulheres no mercado de trabalho (influenciando na independência financeira), quanto pelas novas configurações e arranjos familiares (os quais muitas vezes não possuem uma figura masculina), ou até mesmo pelo lento reposicionamento das mulheres no campo sociofamiliar.
No entanto, Macedo (2008) aponta a necessidade de questionarmos a homogeneidade superficial que é construída em torno da ideia das mulheres que chefiam seus domicílios. Discutir chefia feminina nos binômio domicíliofamília implica compreender que essa posição é ocupada por mulheres pertencentes a diferentes classes sociais e com diferentes realidades. Pensar o atravessamento de raça neste contexto é de suma importância, sobretudo pelas realidades de mulheres-idosas-negras que exercem papéis matriarcais no cuidado emocional e sustento financeiro de filhos e netos, muitas vezes em detrimento do próprio cuidado (SANTOS & RABELO, 2022b).
Estudo realizado por Santos (2020) – cujo objetivo era compreender os eventos
estressantes vivenciados pela população idosa negra –apresentou que as mulheres velhas e pretas se situavam como chefes de família não como uma escolha primeira e como um lugar de benefício, mas em contextos familiares em que eram oneradas financeiramente e exploradas pelas pessoas do seu entorno, que se beneficiavam dos proventos financeiros (geralmente aposentadorias e benefícios sociais de baixo valor). De modo geral, estes domicílios não tinham a presença do cônjuge, tanto por serem viúvas ou por serem mulheres solteiras. Ser chefe de família para muitas idosas negras, portanto, implica em gerir afetiva e financeiramente o núcleo familiar de maneira sobrecarregada, tendo em vista muitos contextos de pauperização e consequente escassez de recursos materiais e humanos (SANTOS, 2020).
Conforme Rabelo e Rocha (2020), o envelhecimento das mulheres corresponde a sua posição desigual ao longo da vida e à exploração do seu trabalho, sendo este grupo sub-representado nos estudos sobre envelhecimento. Deste modo, as desigualdades de gênero também alcançam as mulheres na esfera da vida trabalhista/profissional. As atividades associadas ao ato cuidar são socialmente
atribuídas às mulheres e, portanto, naturalizadas como exclusivas da condição feminina. Ainda que não exerçam outras atividades laborativas, impõe-se às mulheres a responsabilidade pelo cuidado de familiares, seja de crianças e adolescentes em fase de crescimento, seja de adultos e idosos em situação de adoecimento que necessitam de cuidados constantes (SANTOS, 2020; BIROLLI, 2018).
Neste sentido, a feminização da velhice é um fenômeno que também merece atenção pelo prolongamento e intensificação das atividades de cuidado que já vinham sendo realizadas antes da velhice. No entanto, apesar das diversidades de experiências, as mulheres geralmente assumem atividades de cuidado desde a juventude, sendo as mulheres negras a população mais associada ao trabalho da esfera doméstica desde períodos da infância (SANTOS, 2020).
Muitas mulheres, sobretudo as negras que predominantemente ocupam a posição de cuidadoras, abdicam de outros projetos pessoais devido às extensas horas dispensadas ao cuidado de familiares ou de outras pessoas. Muitas vezes é o corpo da velha que precisa
ser cuidado, mas é ela que ainda ocupa o lugar de cuidadora. No tocante às atividades domésticas, o estudo realizado pelo Sesc/ SP e Fundação Perseu Abramo apresenta que 55% das mulheres idosas realizam atividades domésticas, das quais 7% possuem 80 anos ou mais, 17% possuem 70 a 79 anos e 31%, 60 a 69 anos. Embora não tenha discriminado a raça/cor das mulheres que realizam tais atividades, a influência dos aspectos raciais na execução dessas atividades, incluindo as precárias condições de vida e a sobrecarga, são elementos presentes nas vivências de muitas idosas.
Nota-se, neste contexto, como um número significativo de idosas longevas (80+) ainda realizam atividades no âmbito doméstico. Se, por um lado, essa atividade pode se configurar como um elemento saudável e benéfico do ponto de vista da manutenção da autonomia e independência da pessoa idosa, por outro lado, questiona-se quais as condições desse trabalho, se há suporte familiar ou de terceiros, se tais atividades são realizadas de maneira espontânea ou forçosamente, ou ainda se ocorrem devido a um número significativo de mulheres idosas residirem sozinhas.
Na edição de 2020, observou-se que entre o público idoso que recebe ajuda nas atividades, houve uma queda acentuada na “ajuda recebida” em praticamente todas as atividades, se comparada à pesquisa realizada em 2006. Na maioria dessas atividades, que incluem reparos domésticos, auxílio em bancos, limpeza doméstica, fazer compras, locomover-se, entre outras atividades desta natureza, a população idosa recebe ajuda principalmente dos(as) filhos(as) ou cônjuge. Notou-se que quanto maior a idade, mais ajuda é necessária – tanto para homens como mulheres (com algumas exceções para tarefas domésticas).
Outro aspecto a ser salientado é a importância de pensar nos efeitos do entrelaçamento de condições sociodemográficas, comum a muitas realidades de idosas, tais como baixa escolaridade, residir sozinha, viuvez, entre outros aspectos que influenciam na saúde mental desta população. No estudo do Sesc/SP e Perseu Abramo (2020), notou-se que, quanto à escolaridade, 37% da amostra possuía até o ensino fundamental, sendo que 31% eram não idosos e aproximadamente 64% eram idosos; 43% possuíam o ensino médio (50% entre os não idosos e 15% entre
os idosos) e 16% o ensino superior (18% entre os não idosos e 8% entre os idosos). Conforme o estudo, quanto maior a escolaridade, maior a facilidade para ler/escrever (98% entre quem cursou até o ensino médio) e quanto mais aumentava a idade, maior a dificuldade para ler/escrever (80 anos ou mais, 26%).
Os dados anteriores ilustram a menor escolarização alcançando a população mais velha e levam-nos a questionar: há diferenças entre os gêneros? Segundo Nascimento (2015) e Santos (2020), a mulher idosa possui uma trajetória de vida marcada por baixa escolarização e baixa inserção no mercado de trabalho, culminando numa baixa qualificação profissional, principalmente nas idosas negras. Apesar dessa realidade, muitas delas contribuem com a renda familiar, auxiliando filhos ou dependentes.
No mercado de trabalho, este grupo tende a se localizar em ocupações desvalorizadas socialmente, com baixos salários e menor consolidação das leis trabalhistas, reafirmando a ideia de segregação ocupacional por gênero e idade. No contexto das diversas realidades, questionamos, ainda: “e as mulheres velhas e pretas?”.
Segundo Nascimento (2015) e Santos (2020), a mulher idosa possui uma trajetória de vida marcada por baixa escolarização
baixa inserção no mercado de trabalho, culminando numa baixa qualificação profissional, principalmente nas idosas negras.
“Como se situam nesse contexto, tendo em vista as opressões que enfrentam no intercâmbio de fatores intersecionais, tais como raça-gênero-faixa etária?”
Conforme discutem Rabelo et al. (2018), bem como Santos e Rabelo (2022a), a velhice negra apresenta impossibilidades estruturais que limitam uma vivência de velhice bem-sucedida, conforme preconizada e idealizada. Considerando um histórico de vida de perdas e de submissão, a preservação da autonomia torna-se um elemento protetor e saudável para a população idosa, sobretudo para as mulheres negras. Conforme Santos, Lopes e Neri (2007), tem precedência na determinação da condição social dos(as) idosos(as) o fato de terem chegado à velhice, de pertencerem a um grupo racial/étnico discriminado, de serem mais pobres ou com menor escolaridade, ou de pertencerem a determinado gênero; isto é, a interseção de diversos aspectos que podem ser classificados como perversos.
Hayar, Salimene, Karsch e Imamura (2014) ressaltam que a baixa escolaridade e ser negro(a) são fatores sociodemográficos associados à prevalência de dores crônicas, sendo relevante
entre as mulheres idosas que mencionam sentir mais dores do que os homens. O nível de escolaridade contribui significativamente no processo de permanência da população nos estratos inferiores da sociedade, uma vez que a escolaridade por si só constitui um recurso pessoal que pode favorecer ou não uma pessoa a alcançar determinados objetivos de vida.
Outro aspecto importante de ser discutido no âmbito da feminização da velhice refere-se aos diferentes tipos de violência vivenciados por essa população específica. A violência é um termo complexo e multifacetado que se relaciona à violação da integridade da pessoa idosa, seja por meio de ações ou falta de atos, que causam danos físicos, psicológicos e sociais, podendo ocorrer dentro ou fora do ambiente doméstico. Este fenômeno é universal e envolve relações sociais de opressão, intimidação e medo, que podem ser dirigidas à população idosa de maneira direta ou indireta (MANSO, 2019).
No estudo de 2020, observou-se que dois em cada cinco idosos sofreram ao menos um tipo de violência, havendo uma taxa de 19% (16 pontos percentuais a menos que a pesquisa do ano de
2006). Tal redução pode advir da maior notificação de casos de violência contra a pessoa idosa e da ampliação do debate acerca dessa temática nos últimos anos, incluindo as diferentes formas de violência e seus impactos psicossociais sobre a população idosa.
As três situações mais citadas incluíram “ter sido ofendido, tratado com ironia ou gozação ou humilhado/ menosprezado”, “ficar sem remédios ou tratamento médico quando precisava” e “recusa de emprego ou trabalho”. No que tange ao local em que ocorreu a pior violência, 7% declararam ter sido na própria residência, seguido de “em atendimento público” (3%), “na rua”, “em consulta médica/ hospitais” e “no trabalho” (2% cada), e “no comércio” e “no ônibus” (1% cada).
Num cenário social em que as desigualdades de gênero são vigentes, as violências incidem sobre as mulheres de diferentes maneiras. Pensar as situações cotidianas de violência nesse segmento populacional é questão de saúde pública, uma vez que seus impactos são fortemente sentidos no seio social e ocorrem de maneira significativa. As violências físicas, por exemplo, vivenciadas sobretudo nas relações conjugais, configura-se como uma das
maiores causas de morbidade em mulheres, afetando expressivamente sua saúde e ocasionando perdas na área do desenvolvimento pessoal, social, afetivo e econômico (SANTOS, 2020).
Desta maneira, a violência se constitui como uma das maiores preocupações que a pessoa idosa pode vir a enfrentar. É urgente a necessidade de abordar os diferenciais de gênero envolvidos neste fenômeno, os quais são reforçados pelas concepções sociais das mulheres como subalternas e inferiores, consequentemente tornando-as mais vulneráveis e suscetíveis, sobretudo quando são idosas. Assim sendo, é essencial o desenvolvimento de ações e políticas de prevenção e proteção a esse grupo populacional, incluindo práticas de combate aos tipos de violência pouco pautados, mas bastante frequentes, tais como a violência financeira, a violência psicológica e as negligências as quais, muitas vezes, se apresentam de maneira combinada.
Neste sentido, faz-se necessário abordar os diferenciais de gênero que historicamente localizam as mulheres em posições iníquas e desvantajosas. O ageísmo intensifica as violências perpetradas contra a pessoa
idosa e, somando-se às questões anteriormente mencionadas, potencializam o sofrimento de muitas mulheres idosas. Profissionais da área da gerontologia e das demais áreas devem atentar-se para as diversas demandas relativas às mulheres velhas. Um olhar sensível e reflexivo-crítico quanto às especificidades dessa população pode contribuir na prevenção contra a violência e as atitudes discriminatórias, além de ser base para a criação de ações e políticas públicas específicas (MAXIMIANOBARRETO, 2019).
A partir das pontuações anteriormente feitas, é premente a necessidade de que a discussão sobre a feminização da velhice e suas particularidades sejam discutidas em diferentes âmbitos, desde o debate informal até as pautas de políticas públicas. Sabe-se que as mulheres compõem a maioria da população mundial e que o preconceito etário, racial e de classe vigoram no sistema em que estamos inseridos. Deste modo, torna-se evidente a importância de se debater sobre a dimensão psicossocial na abordagem sobre a feminização da velhice, visto que este fenômeno é multifacetado e heterogêneo.

Publicação lançada em 2023 em comemoração aos 60 anos do Trabalho Social com Pessoas Idosas do Sesc (TSPI), baseada na pesquisa Idosos no Brasil II, realizada em parceria com a Fundação Perseu Abramo
É também de grande relevância uma capacitação crítica de profissionais que atuam com a população idosa, além de iniciativas que incluam a redução da violência (em suas diferentes dimensões) na população idosa feminina, a redução da privação das mulheres idosas
de cuidados de saúde, bem como a ampliação de redes que se conectem no sentido de oferecer uma assistência integral às mulheres idosas. É preciso também “dar voz” a esse público esquecido, sobretudo às idosas negras que são negligenciadas nas políticas públicas.
Velhice não é um fenômeno homogêneo. Há diferentes modos de envelhecer, influenciados pelo campo histórico, político, econômico e social. Neste sentido, é preciso superar as discussões biologicistas que simplesmente focam nas diferenças entre homens e mulheres do ponto de vista físico e orgânico. É necessário discutir as diferenças de gênero no âmbito da gerontologia, destacando a feminização da velhice que ressalta as particularidades desse grupo específico.
Os desafios enfrentados pelas mulheres, sejam elas idosas ou não, também se desdobram em adoecimentos psíquicos, desencadeando transtornos depressivos ou de ansiedade. A combinação entre as condições de dependência e pobreza, a sobrecarga dos cuidados, a escassez de tempo para realização de atividades prazerosas e para o autocuidado, as situações de subserviência, a solidão do cuidado, os sentimentos de abandono e as violências são fatores que impactam significativamente na vida dessas mulheres (BIROLI, 2018; SANTOS, 2020).
A posição desigual das mulheres idosas tem raízes históricas e ainda é pouco discutida, sobretudo pela naturalização das
desigualdades que as alcançam. Discutir este tema é um passo importante, e pesquisas que incluam esse público, tal como a desenvolvida pelo Sesc-SP e Fundação Perseu Abramo, despertam para a necessidade de debate sobre esses dados e a ampliação dessa discussão para âmbitos diversos. É preciso, portanto, que essa temática ecoe em diversas esferas e influencie em processos de mudança para minimizar os impactos das iniquidades de gênero e de faixa etária, além dos demais aspectos intersecionais, tais como raça e classe.
BIROLLI, F. Gênero e desigualdades: os limites da democracia no Brasil. São Paulo: Boitempo, 2018.
BRITTO DA MOTTA, A. Violência contra as mulheres idosas: questão de gênero ou de gerações. Anais do XXVIII International Congress of the Latin American Studies Association. Rio de Janeiro, 2009.
CEPELLOS, V. M. Feminização do envelhecimento: um fenômeno multifacetado muito além dos números. Revista de Administração de Empresas [on-line], v. 61, n. 2, 2021. Disponível em: https://go.gale.com/ps/i.do?id=G ALE%7CA664536366&sid=googleSc holar&v=2.1&it=r&linkaccess=abs&iss n=00347590&p=AONE&sw=w&userG roupName=anon%7Ef5eb39c3&aty=o pen-web-entry. Acesso em: 5 jul. 2024.
HAYAR, M. A. S. P.; SALIMENE, A. C. M.; KARSCH, U. M.; IMAMURA, M. Aging and chronic pain: a study of women with fibromyalgia. Acta Fisiatrica. v. 21, n. 3, 2014.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Tábua completa de mortalidade para o Brasil, 2018. Breve análise da evolução da mortalidade no Brasil. Disponível em: https://biblioteca. ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/3097/ tcmb_2018.pdf. Acesso em: 5 jul. 2024.
MACEDO, M. S. Mulheres chefes de família e a perspectiva de gênero: trajetória de um tema e a crítica sobre a feminização da pobreza. Caderno CRH [on-line], v. 21, n. 53, 2008. Disponível em: https://www. redalyc.org/pdf/3476/347632176013. pdf. Acesso em: 5 jul. 2024.
MANSO, M. E. G. Violência, iatrogenia e saúde da pessoa idosa. In: Barroso, A. S.; Hoyos, A.; Salmazo-Silva, H.; Fortunato, I. (org.) Diálogos interdisciplinares do envelhecimento São Paulo: Hipótese, p. 223-242, 2019.
MAXIMIANO-BARRETO, M. A. et al. A feminização da velhice: uma abordagem biopsicossocial do fenômeno. Interfaces Científicas Humanas e Sociais, v. 8, n. 2, p. 239-252, 2019.
MOURA, E. C. S. Envelhecimento, proteção social e desigualdade no brasil. In: Barroso, A. S.; Hoyos, A.; SalmazoSilva, H.; Fortunato, I. (org.) Diálogos interdisciplinares do envelhecimento São Paulo: Hipótese, p. 175-180, 2019.
NASCIMENTO, L. C. P. Transfeminismo São Paulo: Jandaíra, 2021.
RABELO, D. F.; SILVA, J.; ROCHA, N. M. F. D.; GOMES, H. V.; ARAÚJO, L. F. Racismo e envelhecimento da população negra. Revista KairósGerontologia, 21(3), p. 193-215, 2018.
RABELO, D. F.; ROCHA, N. M. F. D. Velhices invisibilizadas: desafios para a pesquisa em psicologia. In: Cerqueira-Santos E., Ludgleydson A. (org.). Metodologias e investigações no campo da exclusão social. Teresina: EDUFPI, p. 32-54, 2020.
SANTOS, G. A.; LOPES, A.; Neri, A. L. Escolaridade, raça e etnia: elementos de exclusão social de idosos. In: Neri, A. L. Idosos no Brasil: vivências, desafios e expectativas na terceira idade. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2007.
SANTOS, N. R. P. Racismo e eventos produtores de estresse: experiências de idosas(os) negras(os). 2020. Dissertação [mestrado em psicologia] – Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA.
SANTOS, N. R. P.; RABELO, D. F. Racism and stressful events among black elderly people. In: Dutra-Thomé L.; Rabelo D. F.; Ramos, D.; Góes E. F. (ed.). Racism and human development: Springer, 2022.
SANTOS, N. R. P.; RABELO, D. F. Racismo e eventos produtores de estresse: narrativas de pessoas idosas negras. Cienc. Psicol., Montevideo, v. 16, n. 2, 2022.
SESC SP; PERSEU ABRAMO. Idosos no Brasil II. Vivências, desafios e expectativas na 3ª idade. Pesquisa de opinião pública, fev. 2020.
UNITED NATIONS. World population ageing. New York, USA, 2019.

“Essa ciranda quem me deu foi Lia que mora na Ilha de Itamaracá...”
A cirandeira Lia de Itamaracá completou 80 anos em janeiro de 2024. Cantora e compositora, ela tem o título de Patrimônio Vivo do estado de Pernambuco e é reconhecida por sua atuação como divulgadora da ciranda no Brasil e no exterior. Quem a vê dançando e comandando as cirandas fica encantando com sua alegria, seu sorriso. Uma mulher negra, idosa, nordestina e cheia de energia que arrasta as pessoas, principalmente os jovens, para dançar com ela. Nascida e criada na Ilha de Itamaracá, no grande Recife, Lia levou seu repertório para outros lugares, como Estados Unidos e países da Europa.
Assim como muitas mulheres brasileiras, sua vida é marcada por muito trabalho desde a infância. Foi cozinheira e merendeira de escola, mas nunca abandonou a ciranda. Usava suas horas vagas para dançar e cantar, seja no bar ou com as crianças na escola. Além disso, Lia também é uma mulher religiosa, unindo o cristianismo com a crença na rainha do mar, Iemanjá, que também influencia suas vestimentas. Apaixonada pelas rodas de coco e ciranda, aos 12 anos começou a cantar nas festas de São João. Adulta, frequentou a ciranda de Dona Duda (1923-2022), na praia do Janga, importante ponto de encontro de mestres cirandeiros. Lia gravou discos, foi agitadora cultural em Pernambuco e atualmente continua sua missão de difundir a ciranda.
Mas, qual seria o segredo de tamanha vitalidade? Cada vez mais pesquisadores do envelhecimento associam a longevidade às atividades desenvolvidas naturalmente por Lia em seu dia a dia. Cantar e dançar, por exemplo, pode ser um remédio para diversos problemas e manter longe algumas doenças. A religiosidade contribui para que o indivíduo passe pelos problemas da vida de maneira mais suave e viver em comunidade, ser socialmente ativo, colabora no senso de pertencimento, aumentando a autoestima e desenvolvendo segurança no indivíduo.
Na entrevista, a mestra da ciranda conta um pouco de sua vida e reflete sobre sua infância, seu envelhecimento e seus planos para o futuro.
Quais são as suas memórias mais marcantes da infância na Ilha de Itamaracá? itamaracÁ Eu cresci aqui nessa ilha, somos da praia do Sossego, minha mãe veio de lá com seis filhos trabalhar na casa de uma família na praia de Jaguaribe. Naqueles tempos o mar tomava essa praia todinha. Tinha muito coqueiral, muito mesmo. Meu pai de criação era o dono daqui tudo. Minha mãe trabalhava na casa dele. Levava eu e mais seis irmãos, tudo pequeno, e nós todos ajudando ela nos trabalhos dessa casa. Eu brincava nessa praia, pelos coqueirais, nas festas que vinham aqui pra ilha, vivia solta correndo por lá, até minha mãe chamar de volta pra casa.
Como era a dinâmica da comunidade em que você cresceu? Você poderia compartilhar como eram as interações entre os jovens e os mais velhos? itamaracÁ Era tudo tranquilo, sem os aperreios, sem a violência que a gente vê hoje. Em Itamaracá eram as famílias dos pescadores, tinha muito tirador de coco, também, e muitos veranistas. As pessoas vinham para a ilha passar as férias, enchiam essa praia toda, era muito bonito, muito bacana, muito feliz. Eu cresci rodeada de crianças. Trabalhei a vida toda numa escola como merendeira e fazia comida todo dia para 300 jovens;
eles sempre me respeitando, cantando minhas músicas. Sempre com muito respeito. E até hoje ao meu redor eu sempre vejo muito respeito.
Tenho 80 anos e sou muito adorada e respeitada pelos mais jovens, que são a maioria dos meus fãs e seguidores.


"Eu não penso no passado. Eu penso no presente e o futuro é Deus que dirá", Lia de Itamaracá
Chegar aos 80 anos é um marco significativo. Como você vê essa jornada e como se sente em relação às mudanças que ocorreram com o tempo? O seu ritmo de vida e de trabalho mudou? itamaracÁ Ah, muita coisa muda. Certas comidas, certas bebidas que não podem mais. Hoje eu me cuido, como coisas saudáveis, muito peixe, frutas. Mas o principal é a alegria de viver, e eu tenho muita alegria, muita energia, e assim vou seguindo até quando Deus permitir.
O que você considera ser o aspecto mais positivo de envelhecer? itamaracÁ É a experiência que a vida traz, a sabedoria, a gente fica mais sem paciência também para muitas coisas (risos). Mas a gente vê a vida com mais agradecimento, todo dia que eu me levanto agradeço por mais um dia viva e trabalhando.
Como mulher negra, você encontrou desafios específicos em sua carreira ou vida pessoal relacionados ao preconceito? Se sim, como lidou com eles? itamaracÁ O preconceito sempre existiu, mas eu sempre andei de cabeça erguida. Eu sou Lia, eu sou mais eu, nunca deixei nada disso me abalar e segui firme e forte.
Você percebe algum tipo de preconceito relacionado à idade nas suas interações sociais? itamaracÁ Se existe eu não percebo, eu não me apego a nada que é ruim pra mim, só às coisas boas, só ao que me faz bem. Minha idade é motivo de orgulho. Não é todo mundo que chega aos 80 anos trabalhando como eu trabalho, levando a cultura para todo canto desse Brasil e do mundo. Eu levo e trago. Eu não dou espaço para preconceito na minha vida, se tivesse dado não tinha me transformado na artista que sou hoje.
Há uma percepção comum de que as pessoas idosas estão mais voltadas para o passado do que para o futuro. Quais são os seus projetos e sonhos para os próximos anos? itamaracÁ Eu não penso no passado. Eu penso no presente e o futuro é Deus que dirá. Tenho os projetos de trabalho, discos, shows, tem muitas coisas acontecendo. E um sonho meu que ainda não realizei que é ir para a África.
Você frequentemente incorpora elementos em seus figurinos que homenageiam Iemanjá. Poderia nos contar mais sobre o significado dessa relação para você e como ela influencia seu trabalho?
itamaracÁ Eu sou católica e filha de Iemanjá. Minha mãe Iemanjá me protege, me dá saúde, energia, amor, muito amor. Isso nas minhas músicas, em algumas roupas que fizeram pra mim, e sou muito feliz por isso.
Como você descobriu sua vocação como cirandeira e o que essa profissão representa para você?
itamaracÁ Foi um dom que Deus me deu, porque na minha família ninguém canta, ninguém toca. Eu desde os 12 anos assumi a responsabilidade de cantar, depois veio a ciranda e me tornei profissional. Essa profissão é tudo pra mim, me levou pro mundo todo. Ela me fez uma mestra da cultura de Pernambuco, e eu só agradeço por Deus ter me dado esse caminho.
Você parece manter uma boa saúde. Quais são os hábitos ou práticas que considera fundamentais para manter-se saudável?
itamaracÁ Ser alegre, estar do lado de pessoas boas, das amizades, viajar, ver coisas novas, lugares novos e ter muito amor pela vida.
De 20 de junho a 21 de julho de 2024, Fernanda Montegro esteve em cartaz no Teatro Raul Cortez do Sesc 14 Bis em São Paulo, com o espetáculo "Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir" Ao todo, foram 20 sessões que receberam um público de mais de 10 mil pessoas. As fotos a seguir foram tiradas durante a temporada, por Matheus José Maria, fotógrafo do Centro de Produção Audiovisual do Sesc São Paulo.
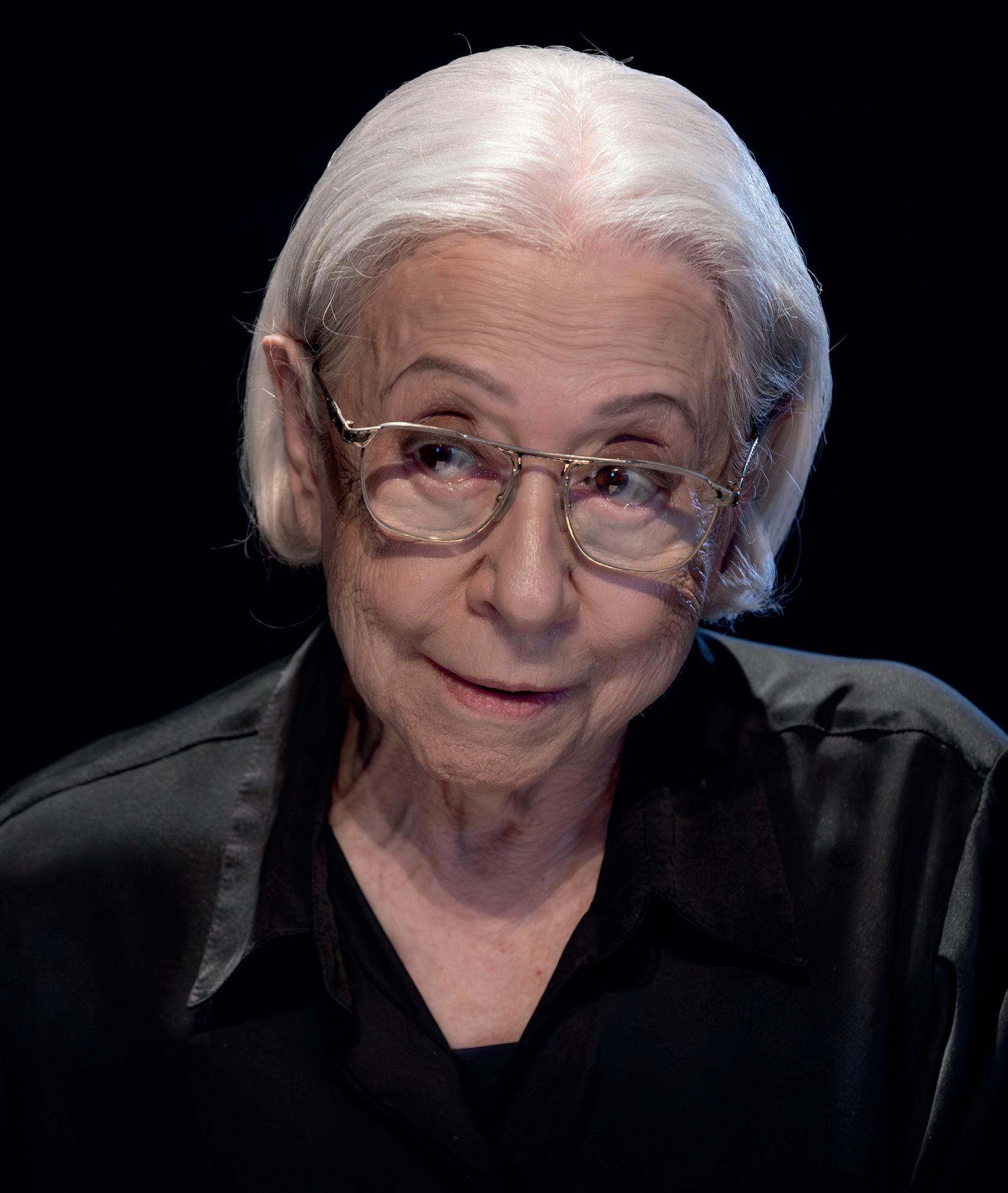



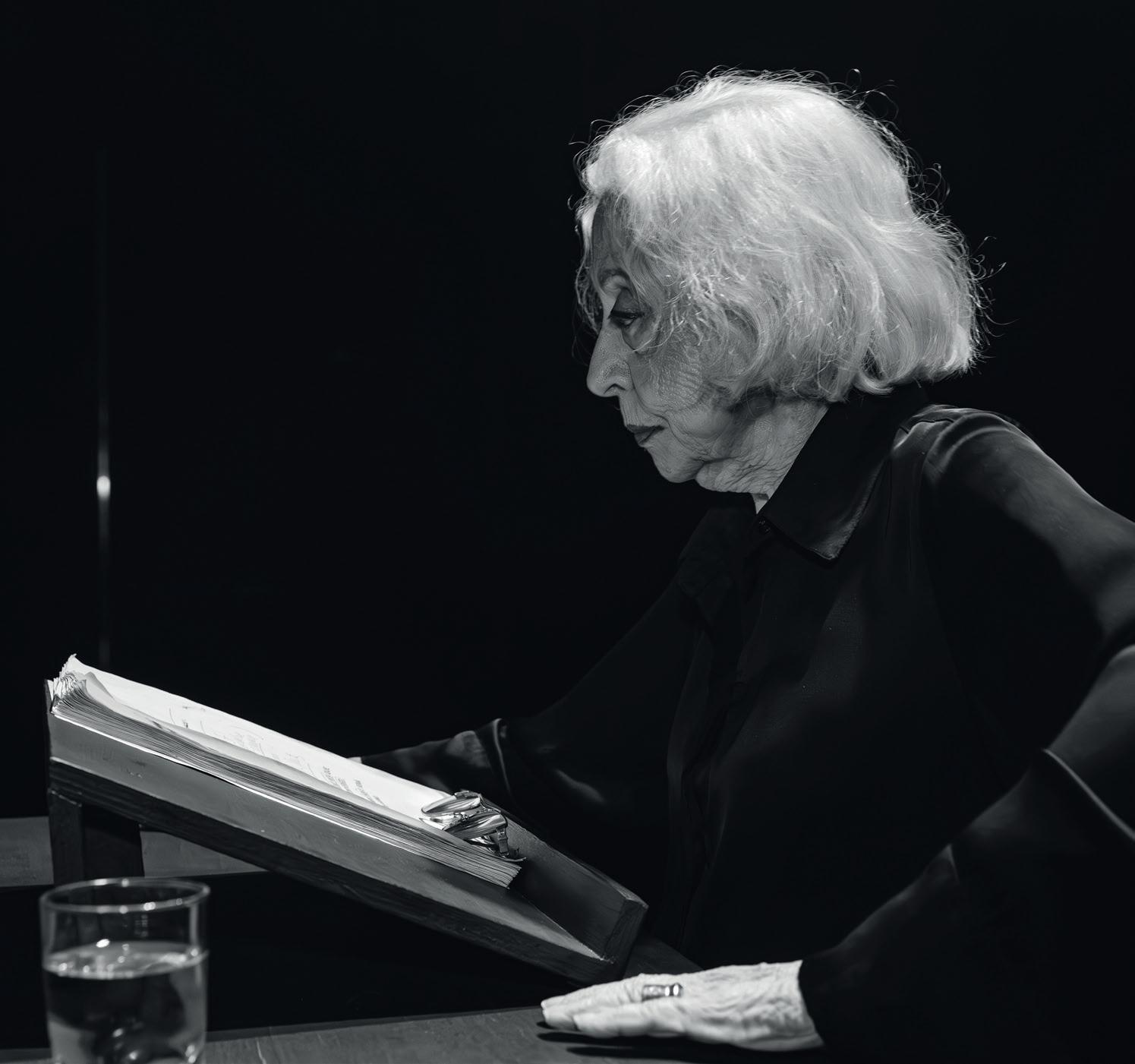


resenha
Mirian Goldenberg Antropóloga, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), autora de A Invenção de uma Bela Velhice e de mais de 30 livros sobre envelhecimento, autonomia e felicidade. Seu TEDx A Invenção de uma Bela Velhice tem 1 milhão e 300 mil visualizações no YouTube.
Arlette Pinheiro Esteves da Silva nasceu no dia 16 de outubro de 1929 em Campinho, um subúrbio do Rio de Janeiro. Mas quando, onde e como nasceu Fernanda Montenegro?
No início do seu discurso de posse na Academia Brasileira de Letras (25 mar. 2022), Fernanda Montenegro declarou: “Sou atriz”.
William Shakespeare deixou eternizado este conceito estrutural como afirmação de uma Arte: “o mundo é um palco e todos nós, seres humanos, somos atores sobre esse palco...”. Como prólogo desta minha fala, devo esclarecer que sou uma incansável autodidata, cuja origem intelectual, emocional, sempre me chegou e ainda me conduz através da vivência inarredável de um ofício: atriz. Sou atriz. Venho dessa mítica, mística arte arcaica, eterna, que é o Teatro. Sou a primeira representante da cena brasileira, do palco brasileiro, a ser recebida nesta casa como acadêmica... Não se cumpre essa profissão sem devoção, sem obstinação, sem coragem.
No discurso, a nova imortal revelou como iniciou sua carreira de atriz:
Em 1945, eu, aos 16 anos, depois de, em um teste, ler uma poesia, fui aceita profissionalmente no elenco da emissora. Permaneci na Rádio MEC por dez anos como locutora, rádio-atriz e responsável, durante alguns anos, pelo programa Passeio Literário, baseado em adaptações de obras referenciais. A Rádio MEC foi a minha vibrante “universidade”.
Como tinha muitas funções na rádio, resolveu que, quando era locutora, seu nome seria Arlette Pinheiro, mas, quando redigia, seria Fernanda Montenegro. No programa Globo Repórter (11 out. 2019), em homenagem aos seus 90 anos, ela contou como nasceu Fernanda Montenegro:
Eu inventei um nome engraçado. Eu acho meu nome engraçado. Ninguém se chama Fernanda Montenegro. É uma invenção. Montenegro era um antigo médico da família, e sempre se dizia: “Se o doutor Montenegro estivesse aqui, isso já estava resolvido”. E o Fernanda era um pouco curtição em cima dos nomes franceses da literatura popular francesa; Fernand, Raymond... Aí eu inventei esse nome e pegou.
Seria impossível registrar aqui todos os passos que tornaram Fernanda Montenegro “a maior atriz brasileira”, “a maior estrela da nossa cultura”, “a grande dama da dramaturgia brasileira”, “a maior atriz da história do Brasil”, “o monstro sagrado do teatro”, entre tantos títulos merecidos que ela costuma receber. No entanto, quero destacar alguns para compreender um pouco melhor a sua trajetória de enorme sucesso.
Em 1950, Fernanda Montenegro atuou pela primeira vez no teatro na peça Alegres Canções na Montanha, junto com o então namorado, o ator Fernando Torres, com quem foi casada por mais de 60 anos. Apesar de a peça não ter feito sucesso, a imprensa destacou que a jovem atriz “roubou a cena”. No ano seguinte, foi a primeira atriz contratada da TV Tupi e, em 1954, participou da primeira novela da Record. Após incontáveis novelas, peças de teatro, filmes e de inúmeros prêmios, um grande marco da sua trajetória foi a indicação como melhor atriz para o Oscar 1999 por seu papel como Dora, a professora aposentada que escrevia cartas no filme Central do Brasil, de Walter Salles.
Apesar da enorme torcida, ela não ganhou o Oscar. A atriz afirmou que nunca trabalhou pensando em ganhar prêmios,
mas por paixão e amor ao seu ofício: “Não vou parar a minha vida pensando em algo que merecia, mas não ganhei”.
Logo após ganhar o prêmio
Emmy de melhor atriz por seu papel como dona Picucha no especial Doce de Mãe, na Globo, Fernanda Montenegro deu uma entrevista para o Fantástico (1° dez. 2013). Perguntaram se o papel de dona Picucha foi feito especialmente para ela. Ela respondeu que sim: “É uma velhinha maluca. Eu, às vezes, acho que sou uma velhinha maluca. Todo velho tem uma zona de maluqueira, eu acho”.
Quando perguntaram: “Você nasceu Arlette Pinheiro. Do que a Arlette gosta?”, respondeu: “A Arlette é muito reservada. Tenho a impressão que é uma outra entidade. Ela gosta de não lamentar a vida”. Depois, afirmou que gosta muito de uma frase de Nelson Rodrigues: “Aprendi a ser o máximo possível de mim mesmo” (Folha de S.Paulo, 7 ago. 2024). E também respondeu à questão: “O que é para a atriz viver sem tempos mortos?”. “Estar em estado de ação. Não obsessiva, não frenética, não competitiva. É ser, é ser. É sentar quando tem que sentar, dormir quando tem que dormir. É não abrir mão de mais algum tempo”.
Ela revelou que não quer mais fazer novelas (Folha de S.Paulo, 7 ago. 2024). Sua última atuação
em uma novela foi em A Dona do Pedaço, de 2019. “Eu quero palco, de onde eu nunca saí. Eu nunca saí do palco. Eu nem sei como eu aguentava fazer teatro, televisão e, às vezes, cinema.”
“Quem é você?”, perguntaram a Fernanda Montenegro no depoimento gravado para o Museu da Televisão Brasileira (3 jun. 1999). A resposta foi com uma pergunta: “E eu sei?”.
Eu sei que eu sou uma esquizofrênica, salva pelo teatro, salva pela minha vocação. Uma cabeça numa volúpia de imagens, isso eu tenho: uma volúpia assim incontrolável de imagens. Não acho que eu seja uma pessoa fácil porque eu sou uma pessoa simples; ou porque eu sou uma pessoa difícil, eu sou uma pessoa fácil. Não sei. Eu estou fazendo um jogo de palavras, mas eu não me analiso a ponto de dizer “Eu sou isso!”. Eu sei que eu sou muitas e a vida me deu a oportunidade de eu ser muitas. Então, eu esvaziei essa angústia do ser muito porque cada possibilidade que você tem de ir acertando ou errando, isso como jogo dramático, como permissão para você ser o que você quiser ser ou o que você se permite ser, eu acho que isso é uma grande possibilidade de saúde, é uma grande possibilidade de salvação também.
"Eu sei que eu sou muitas e a vida me deu a oportunidade de eu ser muitas. Então, eu esvaziei essa angústia do ser muito porque cada possibilidade que você tem de ir acertando ou errando, isso como jogo dramático, como permissão para você ser o que você quiser ser ou o que você se permite ser, eu acho que isso é uma grande possibilidade de saúde, é uma grande possibilidade de salvação também"
"Eu
tinha 20 anos em 1949 quando Simone de Beauvoir apresentou ao mundo
Segundo
Sexo. Aqueles dois volumes esclareceram e coordenaram, para mim, o ser mulher."
E encerrou com um pensamento de Clarice Lispector: “Eu sou mais forte do que eu”.
Em 2009, Fernanda Montenegro decidiu dar vida à obra de Simone de Beauvoir no monólogo Viver sem Tempos Mortos. Mas por que Simone de Beauvoir?
Eu tinha 20 anos em 1949 quando Simone de Beauvoir apresentou ao mundo O Segundo Sexo. Aqueles dois volumes esclareceram e coordenaram, para mim, o “ser mulher”. É uma obra, para sempre, referencial. Passei a tê-la como leitura sadiamente constante, e A Cerimônia do Adeus é parte fundamental dessa imensa mulher... Para a minha geração, ler Simone de Beauvoir significou abrir o mundo para uma visão orgânica da condição “de ser mulher”. De onde viemos, como estamos e para onde devemos ir.
A Cerimônia do Adeus, último livro publicado por Simone de Beauvoir em vida, é uma reflexão sobre amor, velhice, morte e luto. Publicado em 1981, cinco anos antes da morte da filósofa, foi baseado em seu diário pessoal e também em conversas e entrevistas com Jean-Paul Sartre, seu companheiro durante 51 anos.
Aos 80 anos, Fernanda Montenegro afirmou que assinaria o seguinte texto de Simone de Beauvoir:
A impressão que eu tenho é de não ter envelhecido, embora eu esteja instalada na velhice. O tempo é irrealizável. Provisoriamente, o tempo parou para mim. Provisoriamente. Mas eu não ignoro as ameaças que o futuro encerra, como também não ignoro que é o meu passado que define a minha abertura para o futuro. O meu passado é a referência que me projeta e que eu devo ultrapassar. Portanto, ao meu passado eu devo o meu saber e a minha ignorância, as minhas necessidades, as minhas relações, a minha cultura e o meu corpo. Que espaço o meu passado deixa para a minha liberdade hoje? Não sou escrava dele. O que eu sempre quis foi comunicar da maneira mais direta o sabor da minha vida. Unicamente, o sabor da minha vida. Acho que eu consegui fazê-lo. Vivi em um mundo de homens guardando em mim o melhor da minha feminilidade. Não desejei e não desejo nada mais do que viver sem tempos mortos.
Viver sem Tempos Mortos foi o embrião de Fernanda Montenegro Lê Simone de
Beauvoir. Aos 94 anos, a atriz iniciou a temporada da leitura dramática em 8 de março de 2024, Dia Internacional da Mulher, no palco do Teatro Prio, no Jockey Club, Rio de Janeiro.
O espetáculo, baseado em uma de suas obras, proposto a mim em 2007 por Sérgio Britto, já com a saúde extremamente debilitada, não se realizou. A ideia permaneceu em mim através de outra criação de Simone de Beauvoir, A Cerimônia do Adeus. Organizei rigorosamente essa importante obra durante dois anos... Em março de 2023, na Academia Brasileira de Letras, realizei a primeira leitura desse mesmo texto, organizado por mim. Seguiram duas apresentações no Teatro Poeira, já com aceitação total da plateia. Quando dessa leitura, trechos de outras obras dessa importante feminista e escritora já estavam incluídos nessas apresentações.
A atriz dirigiu e selecionou os trechos dos livros de Simone de Beauvoir e a trilha sonora da leitura dramática. Seu objetivo foi criar um ambiente em que o público pudesse sentir o impacto da liberdade que Simone de Beauvoir defendia na sua própria vida. Sozinha em cena durante 75
minutos, com cenário e figurino minimalistas – óculos, calça e camisa pretas, uma mesa, uma cadeira, um copo d’água e um bloco de papéis – Fernanda Montenegro não apenas dá vida à obra da feminista que mais influenciou sua trajetória, mas também retrata suas próprias escolhas profissionais, amorosas e existenciais.
Após um enorme sucesso no Rio de Janeiro, Fernanda Montenegro Lê Simone de Beauvoir lotou o Teatro Raul Cortez, no Sesc 14 Bis, em São Paulo, nos meses de junho e julho de 2024. A procura por ingressos foi tão grande que acabou travando o sistema de vendas on-line do Sesc.
Na volta de Fernanda Montenegro Lê Simone de Beauvoir ao Rio de Janeiro, no dia 2 de agosto de 2024, a atriz foi ovacionada quando encerrou a peça.
Baseada na vida que eu ainda possa ter pela frente. Faço agora em outubro 95 anos. É uma alegria estar aqui e ter essa plateia maravilhosa. São 80 anos nessa função. Nossos teatros estão cheios, isso quer dizer que o ser humano precisa do ser humano... É uma comunhão fraterna importante... Nós somos seres humanos em busca de comunhão humana.
Ela confessou que: “A propósito dos meus 95 anos chegando, repito, como lema, é com muita coragem que ainda estou aqui”.
No dia 18 de agosto de 2024, a atriz emocionou uma multidão no Parque Ibirapuera, em São Paulo, onde apresentou a leitura de A Cerimônia do Adeus. (Folha de S.Paulo, 18 ago. 2024). Conduzida por Fernanda Montenegro, “(...) a plateia reagia com risadas em momentos mais descontraídos, como a narração de um primeiro orgasmo, e com lágrimas em outros, diante da dor de presenciar o companheiro de uma vida adoecer”. O público parecia hipnotizado pelo privilégio, emoção e alegria de ver a maior atriz brasileira exercendo seu ofício, aos 95 anos, com tanta paixão, força e liberdade.
Sua filha, Fernanda Torres, “subiu ao palco aplaudida de pé pela multidão para contar a relação da mãe com a obra de Simone de Beauvoir”:
Essa obra fala, acima de tudo, da liberdade e de sua importância em nossas vidas, não importa a idade ou a origem de cada um. Apesar das vidas diferentes, a liberdade também guiou o caráter de minha mãe. Quando eu completei 17 anos, ela fez questão de me dar uma edição de presente.
Assim como aconteceu com Fernanda Montenegro, a obra de Simone de Beauvoir teve um impacto profundo na minha vida e influenciou decisivamente minhas escolhas existenciais. O Segundo Sexo e A Velhice foram as minhas maiores inspirações para as minhas pesquisas sobre envelhecimento, autonomia e felicidade e, também, para os meus livros, especialmente A Invenção de uma Bela Velhice.
Li, pela primeira vez, O Segundo Sexo quando tinha 16 anos. Uma das maiores alegrias da minha vida foi o convite para escrever um texto de apresentação para a edição comemorativa dos 70 anos desse livro, em 2019. Como a menina de 16 anos, que começou a trilhar os próprios caminhos de libertação depois de ler e reler inúmeras vezes toda a obra de Simone de Beauvoir, poderia sonhar que iria escrever um texto de apresentação para o livro mais importante de toda a sua vida?
É importante destacar que, nas minhas pesquisas com cinco mil homens e mulheres, de 18 a 99 anos, perguntei: “O que você mais inveja em um homem?”. As mulheres responderam em primeiríssimo lugar: liberdade. Elas invejam a liberdade sexual, a liberdade com o corpo, a liberdade de envelhecer em paz, a liberdade de rir e de brincar, a liberdade de fazer
xixi em pé e muitas outras liberdades masculinas. Já os homens, quando perguntados sobre o que mais invejam em uma mulher, responderam categoricamente: nada.
Foi surpreendente constatar que, mais de 70 anos após a publicação de O Segundo Sexo, e após tantas lutas e avanços na condição feminina, as mulheres continuam invejando a liberdade masculina. E que os homens pesquisados não invejam nada nas mulheres.
Quando pedi “dê um exemplo de uma pessoa que envelheceu bem”, a maioria dos homens e mulheres respondeu: Fernanda Montenegro. Ela foi citada como a mulher mais admirada do Brasil em todas as faixas etárias. Os motivos apontados foram: ela é autêntica, corajosa, elegante, talentosa, autônoma, inteligente, independente, séria, discreta, produtiva, ativa, tem dignidade e, também, “ela não se aposentou da vida”, “aceita o envelhecimento”, “não tenta parecer mais jovem”, “não se deformou com plásticas”, “não se comporta como adolescente”.
Fernanda Montenegro não apareceu apenas como o melhor exemplo de “bela velhice”, mas como uma inspiração para as mulheres, de todas as idades, serem mais livres, autônomas e autênticas.
Ela foi considerada única e incomparável: uma mulher que nunca se aposentou da sua vocação e do seu ofício.
“Não se nasce mulher: torna-se mulher” é a famosa frase que resume as centenas de páginas de O Segundo Sexo, publicado na França em 1949. Simone de Beauvoir argumentou que a mulher livre – a mulher que luta pela sua autonomia econômica, social, psicológica e intelectual – estava apenas nascendo. Ela defendeu que a luta pela libertação é uma exigência não só das mulheres, mas também dos homens, já que senhores e escravos são aprisionados pela mesma lógica da dominação masculina. Não há, para a mulher, outra saída senão a de trabalhar pela sua libertação.
Quando Fernanda Montenegro completou 91 anos, inspirada na música de Rita Lee Todas as Mulheres do Mundo, escrevi que todos os brasileiros e brasileiras deveriam cantar orgulhosamente que “Toda mulher é meio Fernanda Montenegro” (Folha de S.Paulo, 14 out. 2020). Agora, quando a atriz comemora seus 95 anos e 80 anos de uma trajetória incomparável, prefiro parafrasear a célebre frase de Simone de Beauvoir e afirmar que “não se nasce Fernanda Montenegro, torna-se Fernanda Montenegro”.
Quando pedi “dê um exemplo de uma pessoa que envelheceu bem”, a maioria dos homens e mulheres respondeu: Fernanda Montenegro. Ela foi citada como a mulher mais admirada do Brasil em todas as faixas etárias.
painel de experiências especial américa latina
M. Mercedes Zerda Cáceres Psicóloga, mestra em psicogerontologia e especialista em psicologia comunitária, cultura aimará e gerontologia comunitária. Possui 40 anos de prática em psicologia comunitária com pessoas idosas na Comunidade Awicha, de La Paz, Bolívia. Professora e pesquisadora, tem publicações sobre envelhecimento e velhice de povos indígenas-originários da Bolívia. petizerda@hotmail.com
resumo
Escrito de forma testemunhal, este texto apresenta um dos ensinamentos mais importantes que meu companheiro e eu recebemos nos 40 anos em que compartilhamos nossas vidas com pessoas idosas da nação originária aimará, desempenhando nosso papel de psicólogos comunitários: a maneira de viver em comunidade. Descrevo brevemente um estilo de abordagem gerontológico que resgata as bases culturais deste povo indígena-originário, suas características e os resultados alcançados pela Comunidade Awicha, um exemplo vivo de como as pessoas idosas indígenas recuperam o controle de suas vidas e contribuem para a sociedade. Trata-se de como se constrói uma comunidade que sustenta a velhice, utilizando as ferramentas próprias da cultura de um dos povos nativos mais antigos do continente.
abstract
Written in a testimonial style, this text presents one of the most important lessons my partner and I have learned in the 40 years we have shared our lives with older people from the Aymara indigenous nation, fulfilling our role as community psychologists: the way of living in community. I briefly describe a gerontological approach that recovers the cultural foundations of this indigenous people, its characteristics, and the results achieved by the Awicha Community, a living example of how indigenous elders regain control of their lives and contribute to society. It is about how to build a community that supports old age, using the tools of the culture of one of the oldest native peoples of the continent.
1 O aimará é o segundo povo originário mais numeroso da Bolívia (o primeiro é o quéchua). Seu habitat natural é desértico, alto e frio por estar entre as cordilheiras que cruzam América do Sul. Atualmente sua população é estimada em três milhões de pessoas, que vivem majoritariamente na Bolívia, ocorrendo menor proporção no Peru, Norte do Chile e Argentina.
2 Na Bolívia, para nos referirmos à cultura ocidental antes da conquista espanhola até os tempos atuais, usamos um termo composto: indígenaoriginários. Indígenas é como se reconhecem os povos amazônicos e do Chaco selvagem. Já originários são os que habitaram o altiplano e os vales do país e que não aceitam a denominação de indígenas. A nação aimará é originária.
Durante as décadas de 1970 e 1980, a América Latina viveu uma época de intenso compromisso político de grande parte dos estudantes e professores universitários, que participaram de movimentos que buscavam colocar os conhecimentos científicos a serviço de uma mudança social que favorecesse as maiorias pobres do continente. Nesse ambiente surgiu a única disciplina psicológica nascida nestas terras: a psicologia comunitária latino-americana, que foi criada como resposta à realidade acadêmica da época, já que as universidades repetiam teorias surgidas na Europa ou nos Estados Unidos, formando profissionais que tentavam adaptar a realidade dos nossos países aos moldes dessas teorias estrangeiras, reforçando, assim, na academia, a colonização ocidental eurocêntrica da qual não nos libertamos com a guerras de independência do século XIX e pela qual, parecia, havíamos deixado de ser colônias.
É nesse contexto histórico que eu e Javier Mendoza, meu companheiro de vida, decidimos compartilhar nossas vidas com pessoas originárias do povo aimará1 em um bairro então marginal da cidade de La Paz, onde desenvolvemos nossa experiência como psicólogos
bolivianos desejosos de descobrir alternativas úteis para melhorar a vida das pessoas pobres e indígenasoriginárias2 com as quais começamos a viver no início dos anos 1980. Tomamos essa decisão movidos pela necessidade de conhecer melhor a realidade humana do nosso país, um país em que era evidente que a maior parte da população era indígena e não tinha participação política no sistema de governo de sua própria terra, de modo que, a partir da psicologia, sua realidade era completamente alheia ao que se ensinava e discutia nos âmbitos acadêmicos.
Assim desenvolvemos uma experiência que durou quatro décadas, em que aprendemos lições de vida muito importantes. É um pouco dessa experiência que quero compartilhar neste texto, mais precisamente tratar sobre o desenvolvimento de uma maneira de organização de pessoas idosas baseada no comunitário, elemento fundamental da cultura aimará. No altiplano andino, território dessa nação, é questão de vida ou morte conviver em uma estrutura coletiva de colaboração permanente devido à aridez do entorno e às baixas temperaturas; dessa forma o povo aimará tem subsistido, mantendo
severas normas ancestrais de cooperação, solidariedade, equidade e reciprocidade. De forma que, para os aimarás, as relações que as pessoas estabelecem entre si e com a natureza estão baseadas no respeito às pautas de comportamento comunitárias.
Na Bolívia, quando falamos de comunidade, nos referimos fundamentalmente ao ayllu dos povos quéchua e aimará, que é a base social de sua organização política e é composto pela agregação de famílias que compartilham o território. Em sua cosmovisão, o coletivo tem um valor igual ou maior do que o individual. No ayllu, a participação é obrigatória, tudo o que se refere ao funcionamento da comunidade é decidido em assembleias de participação obrigatória em que devem estar representadas todas as famílias.
Esta forma boliviana de entender o conceito de comunidade difere de outras mais gerais usadas em outros países como, por exemplo, no Chile, em que comuna é equivalente a município, ou na Espanha, na qual comunidade autônoma é uma unidade política equivalente à província ou departamento.
Compartilhando nossa vida com este antigo povo, tivemos o privilégio de acompanhar processos de resgate e exercícios de cosmovisão, além de tradições, costumes e rituais aimarás que foram se fortalecendo no âmbito de diferentes grupos de todas as idades que se organizaram respondendo a diferentes necessidades, de modo participativo e autogestionário, formando assim, paulatinamente, uma comunidade urbana que replicava formas organizativas da tradição aimará, que até aquele momento tinham sido essencialmente rurais3
Formaram-se grupos culturais, organizações produtivas e de apoio mútuo, como um centro infantojuvenil, outro de medicina e espiritualidade aimará, um ateliê de produção de artesanato e a organização mais importante que quero compartilhar neste testemunho: a Comunidade Awicha4, organização de pessoas idosas que, juntamente com outros grupos, conseguiu formar a Comunidad Aymaras Urbanos de Pampajasi (Caup), associação legalmente estabelecida que tem como missão obter o reconhecimento e a continuidade, no nosso país, da cosmovisão aimará,
3 A partir do processo de mudança política no qual nasceu a nova Constituição Política do Estado, em 2009, a Bolívia passou, de república monocultural, com apenas um idioma e uma religião, a um Estado Plurinacional, que reconhece 36 nações e idiomas oficiais. Tornou-se um país laico e comunitário e, desde então, começaram a surgir com força as identidades das diversas nações indígenas-originárias, sobretudo a aimará e a quéchua, que têm a maior quantidade populacional, tendo visibilidade em ambientes urbanos e não apenas rurais, como era antes de 2009.
4 Awicha em idioma aimará significa “avó”, mas não se refere somente à avó de sangue, é um termo que se usa para retratar todas as mulheres anciãs, assim, quando as pessoas aimarás se dirigem a uma mulher idosa em castelhano e dizem “avó”, a estão tratando com respeito e não porque a consideram sua avó.
A Comunidade Awicha foi formada em 1985 por iniciativa de quatro idosas aimarás que chegaram à nossa casa para solicitar que lhes déssemos apoio para, nas suas próprias palavras, “ter uma casinha onde possamos viver e morrer juntas”, pois haviam visto o trabalho organizacional que desenvolvíamos com as famílias do bairro.
suas formas organizativas, sua representação do mundo e seus costumes e valores frente à imposição de um modelo social urbano ocidental globalizado.
A partir de nosso trabalho como psicólogos, a forma de acompanhar o desenvolvimento humano dessa organização sempre foi não diretiva5, sem planejamentos preestabelecidos e cumprindo o papel de acompanhantes, nunca de diretores. Essa abordagem foi se consolidando em uma metodologia de trabalho que foi transmitida às pessoas que compõem a equipe técnica e profissional da organização. As crianças que cresceram no centro infantil são agora as pessoas com formação acadêmica ou empírica que acompanham os processos comunitários de toda a organização.
Avançando nessa construção coletiva foi-se buscando, de forma natural, cada vez mais a orientação das pessoas idosas, pois são elas que guardam os conhecimentos mais genuínos da cultura aimará. Dessa forma, as awichas se consolidaram como o pilar fundamental da orientação ideológica da Caup e nós, psicólogos formados em âmbitos urbanos e ocidentais, tivemos a possibilidade de obter os mais valiosos aprendizados
para nossas vidas a partir das palavras dessas pessoas, que eram principalmente mulheres indígenas que não falavam castelhano, pobres e analfabetas.
A Comunidade Awicha foi formada em 1985 por iniciativa de quatro idosas aimarás que chegaram à nossa casa para solicitar que lhes déssemos apoio para, nas suas próprias palavras, “ter uma casinha onde possamos viver e morrer juntas”, pois haviam visto o trabalho organizacional que desenvolvíamos com as famílias do bairro. Claro que aceitamos o convite que nos faziam de acompanhálas em um projeto que, ao longo dos anos, se consolidou como um modelo gerontológico comunitário.
Ao permitir que as awichas desenvolvessem por si mesmas processos autogestionários, surgiu de forma natural uma organização comunitária semelhante aos seus ayllus originários, e começaram a construir sua comunidade urbana de pessoas idosas de maneira bem diversa de todas as instituições gerontológicas existentes no país. Dessa forma, enfrentaram com sucesso a depressão, a solidão, o abandono e a pobreza que viviam na situação
de migrantes, trazidas por seus filhos à cidade para não serem deixadas em áreas rurais. Paulatinamente foram recuperando sua dignidade, melhorando sua autoestima individual, grupal e cultural, e começaram a construir uma alternativa de atenção gerontológica que reivindica o respeito aos seus conhecimentos e a continuidade de seus costumes, valores e ritualidade cultural.
A organização realiza permanentemente atividades culturais de música, dança, gastronomia, medicina natural, alimentação, cuidado da Mãe Terra e oficinas de transmissão da cultura aimará para crianças e jovens de escolas, colégios e universidades. Para consolidar todas essas atividades, sempre realizam oferendas rituais aos espíritos da natureza e aos antepassados, entidades próprias de sua espiritualidade.
As awichas desenvolveram uma estrutura organizativa que, coerentemente com sua cultura, é participativa, solidária, equitativa e comunitária. A organização é composta de cinco agrupamentos de pessoas idosas que se reúnem em diferentes pontos do bairro de Pampajasi e seis no município de Copacabana, às margens do lago Titicaca6. Cada grupo,
5 Usamos o enfoque terapêutico de Carl Rogers, que atualmente se denomina Atenção Centrada na Pessoa (ACP), adaptado à intervenção em grupos culturalmente oprimidos, como eram nos anos 1980 os grupos de aimarás nas cidades ocidentais.
6 Titicaca é o lago navegável mais alto do mundo, está a 3.812 metros sobre o nível do mar e é compartilhado entre Peru e Bolívia.

composto de 20 a 30 pessoas, conseguiu obter um imóvel para o funcionamento de seus refeitórios e para realizar reuniões e atividades que programam coletivamente. Cada uma dessas unidades organizadas elege duas ou três pessoas para cumprir cargos diretivos por um ano, e elas são responsáveis por representar todo o grupo e realizar tarefas concretas, como a administração econômica, o contato com doadores, o cuidado e a manutenção da infraestrutura e, acima de tudo, zelar pelo interesse da comunidade.
Cada grupo realiza uma reunião semanal para expor suas necessidades, tomar decisões sobre as atividades, formar comissões para cumprir as tarefas necessárias para o funcionamento de seus refeitórios e para a realização de todas sua agenda, como, por exemplo, comissões para comprar alimentos, cozinhar, fazer pão, limpar a despensa e preparar material para as oficinas culturais. Além disso, nas reuniões, os problemas interpessoais são resolvidos de maneira coletiva.
As lideranças de cada grupo têm reuniões mensais de coordenação. Nessas reuniões, são apresentados os relatórios financeiros, organizados os gastos, distribuídos os alimentos e o dinheiro para os refeitórios, informam-se sobre visitas recebidas, doações, solicitações e são coordenadas as atividades para o mês seguinte. Também são analisados problemas internos dos grupos e apresentadas as opiniões coletadas de suas bases para a criação de ações conjuntas.
Assim como no ayllu, os cargos de direção são rotativos e cumpridos em mandatos de um ano. Essas funções de autoridade não são um privilégio, mas sim um serviço obrigatório. O controle social é muito forte e rigoroso, especialmente nos aspectos econômicos. A igualdade é fundamental, os benefícios são distribuídos de forma equitativa e as tarefas são divididas da mesma maneira. O interesse da comunidade está acima do interesse particular, o que faz com que sempre existam conflitos que são resolvidos com uma metodologia participativa desenvolvida ao longo dos anos.
Os grupos organizados dessa forma elaboram seus próprios projetos, os executam e os avaliam sem interferências externas, mantendo relações diretas com as pessoas e instituições doadoras. Recebem
apoio técnico de uma equipe operacional composta de duas pessoas que acompanham os processos autogestionários.
Na Comunidade Awicha, fala-se permanentemente o idioma aimará, é realizada a akullika (mastigação de folhas de coca)7 para compartilhar momentos de descanso e analisar e discutir ideias, são tocados instrumentos musicais nativos, canta-se e dança-se sua própria música, realizam-se oferendas rituais e é usada a medicina natural para curar doenças e manter a saúde. Tudo isso faz com que a cultura viva seja difunda e constantemente valorizada pelo ambiente familiar e social que cerca a organização.
As pessoas idosas que fazem parte da Comunidade Awicha estão muito conscientes de que sua maneira de viver a velhice é muito mais positiva e alegre do que a que se vive em outros espaços de atenção gerontológica que seguem modelos ocidentais de serviço e não estão centradas nas pessoas e nas necessidades que elas têm, sendo idosas, de se relacionar e manter sua contribuição à sociedade. Mas, sobretudo, a atenção gerontológica não leva em conta as peculiaridades culturais, que são vitais para as pessoas de povos indígenas e originários, especialmente no nosso país.
7 A folha de coca é sagrada para os aimarás, que a chamam de “mãe coca”. Ela é consumida no akulliku, que consiste em sua mastigação. É usada para aumentar a energia física, quando são realizados oferecimentos rituais ou em situações sociais em que seu consumo é coletivo.
Até o momento, a Comunidade Awicha conseguiu:
• Duas moradias comunitárias que permitem que pessoas idosas migrantes vivam em um ambiente coletivo, nas quais seus valores e modos de vida tradicionais são respeitados.
• Cinco refeitórios urbanos e um rural.
• A organização de 11 grupos com características próprias, que abrangem mais de 200 pessoas idosas.
• Oficina de fiação, tingimento natural e tecelagem de lã de alpaca.
• Formas de cuidar da saúde física, mental e espiritual.
• Vivências de música e dança ancestrais.
• Vivências teatrais baseadas em contos tradicionais e na mitologia da tradição oral.
• Pesquisas sobre o envelhecimento dos nossos povos nativos.
• Realização de oficinas de formação para crianças e jovens sobre a cultura aimará em escolas urbanas e rurais.
• Duas hortas urbanas e um terreno de cultivo onde produzem alimentos seguindo a ritualidade aimará de respeito e cuidado com a Pachamama (Mãe Terra).
• Um estilo de envelhecimento positivo, resgatando a visão cultural de um dos povos indígenas-originários mais importantes da Bolívia.
A forma como as moradias comunitárias são organizadas é muito inovadora pois, ao captar a essência comunitária ancestral, torna-se um modelo muito moderno de atendimento de longa permanência, baseado em não diretividade, atendimento centrado na pessoa e autogestão comunitária. Tudo isso é muito diferente dos modelos tradicionais. As awichas se sentem ofendidas quando alguém se refere à sua casa como “asilo” ou “lar de idosos”; elas sabem claramente a diferença entre essas instituições e seu estilo de moradia comunitária, sobre a qual podemos destacar as seguintes características:
a) Tem uma estrutura organizativa baseada nos costumes aimarás, em que tudo é decidido por consenso entre os moradores e aqueles que, mesmo não morando lá, participam das refeições e atividades de grupo que ocorrem na casa comunitária.
b) A administração da moradia está a cargo dos moradores. São eles que, em comissões definidas em reuniões semanais, se encarregam do funcionamento e manutenção da casa e, juntamente com os comensais externos, cuidam da administração e funcionamento do refeitório.
c) São realizadas reuniões semanais nas quais são acordadas as atividades comunitárias da casa, conciliando todos os aspectos de sua vida em comum: saúde, compras, cardápio, administração do dinheiro e da despensa, limpeza, lavanderia, segurança, cuidados com pessoas muito idosas e doentes, entre outros. Também coordenam atividades com outros grupos da comunidade e solucionam problemas que surgem entre relações interpessoais.
d) Seu funcionamento é muito barato, pois não contam com mais pessoal além de uma cozinheira, uma psicóloga e uma coordenadora geral da comunidade que atendem uma vez por semana, ambas acompanhando o funcionamento da moradia e das relações interpessoais.
Essa forma comunitária de “viver e morrer juntas”, como desejavam as fundadoras, foi proposta como possibilidade
de se tornar um programa social estatal para o atendimento de pessoas idosas de áreas rurais que foram abandonadas pela migração de seus filhos e que não querem se mudar para viver com eles nas grandes cidades; assim como para pessoas idosas migrantes camponesas em áreas urbano-marginais, pois lhe permitem viver o final de suas vidas em espaços autônomos, onde se preserva o espírito comunitário de suas culturas nativas e se mantêm valores, tradições, usos e costumes de seus povos, sem interromper a maneira como viveram toda a vida.
Finalmente, quero apresentar alguns elementos desta gerontologia comunitária que resgatamos para motivar análises e discussões sobre a orientação comunitária que acreditamos que deve ser fomentada nos milhares de grupos de pessoas idosas que existem atualmente em nosso continente.
a) Tem uma localização geográfica específica e estabilidade temporal. É um grupo cujos membros se reúnem periodicamente em um lugar específico e é duradoura no tempo.
Uma importante lição aprendida é que, nas condições atuais de nosso planeta, é urgente que, se quisermos nos salvar como espécie humana, recuperemos as formas comunitárias de convivência, pois uma perspectiva individualista de sobrevivência não é sustentável. A
8 Por exemplo, um grupo de pessoas idosas pobres identificará como necessidade inicial ganhar um pouco de dinheiro e pretenderá começar um projeto produtivo, mas à medida em que se conhecem mais e aprofundam as discussões, desenvolvendo confiança mútua, irão decidir ter um pequeno lanche nas suas reuniões, que pode se converter em uma refeição e, finalmente, irão perceber que não precisam de dinheiro e sim de uma cozinha. Posteriormente, já não será mais suficiente ter onde comer, mas sim satisfazer sua necessidade de inclusão e afeto e então irão realizar outras atividades juntos e, finalmente, irão identificar sua necessidade de reconhecimento social como pessoas idosas e se voltarão para atividades de apoio em seu bairro ou cidade.
b) Seus membros compartilham um sistema de representações, são da mesma cultura, falam o mesmo idioma e têm costumes semelhantes. Embora não exista discriminação de nenhum tipo, é importante que exista homogeneidade cultural. Uma pessoa de cultura e idioma diferentes sempre poderá se adaptar e integrar uma comunidade com uma diferente cosmovisão, mas, se há semelhança nos costumes e visões de mundo, será mais fácil fomentar a convivência.
c) Existe interação ativa e positiva entre seus membros, eles se conhecem bem, fazem atividades conjuntas, são amigos e desenvolvem uma relação afetiva.
d) Na organização há a participação e o controle das pessoas idosas, elas discutem e decidem tudo o que diz respeito à sua organização e atividades, não trabalham com planejamentos predeterminados ou com objetivos que não sejam os que elas mesmas estabeleceram.
e) Desenvolve-se um sentido de pertencimento. Quem integra o grupo sente-se identificado com sua atuação, sente que é protegido pelo grupo e se reconhece como parte dele.
f) Satisfaz necessidades específicas, que foram identificadas pelas pessoas idosas que integram a organização. Quando estão iniciando o processo, as necessidades iniciais que identificam geralmente não são fundamentais. À medida que avançam no conhecimento mútuo e aprofundam a discussão sobre sua situação real, surgem paulatinamente as necessidades reais ou essenciais daquele momento, que vão mudar à medida que o grupo avança em seu amadurecimento.8
g) Promovem uma organização autogestionária, pois são as pessoas idosas que gerenciam as atividades para satisfazer as necessidades identificadas, buscam recursos de todo tipo por sua própria iniciativa e desenvolvem metodologias para alcançá-los.
h) É uma organização que fortalece a autoestima individual de seus integrantes, a autoestima de grupo como pessoas idosas e a autoestima cultural, se for o caso, como povo indígena e originário.
i) A organização é dona de seus recursos e responsável por eles. Embora seja parte de uma instituição estatal ou privada, o grupo gerencia seus próprios recursos de maneira organizada, decidindo sobre
como usá-los e é responsável por cuidar deles, os utilizando conforme decisão consensual. O grupo cuida até dos recursos individuais dos participantes.
j) Planejam, executam e avaliam seus projetos. Podendo contar com o apoio de técnicos ou especialistas que os ajudam, são as pessoas idosas que decidem o que vão fazer, organizam, executam e, depois, são elas mesmas que avaliam se alcançaram os resultados esperados.
São muitos os aprendizados que acumulamos nestes quase 40 anos desde que quatro awichitas bateram em nossa porta. Ao a abrirmos, não imaginávamos que, ao deixá-las entrar em nossa casa, estávamos permitindo que entrasse em nossas vidas uma maneira diferente de entender o mundo, de estabelecer relações com as outras pessoas, com nossa comunidade e com a natureza. Aprendemos muito sobre sua representação do envelhecimento, lições que nos ajudam a envelhecer como tudo na natureza – as plantas, os rios, as montanhas –, envelhecer de maneira natural, aceitando as mudanças que vêm com cada idade, não nos resignando a sofrer com elas.
Uma importante lição aprendida é que, nas condições atuais de nosso planeta, é urgente que, se quisermos nos salvar como espécie humana, recuperemos as formas comunitárias de convivência, pois uma perspectiva individualista de sobrevivência não é sustentável. O comunitário é mais barato, precisa de menos recursos da natureza e implica na equidade de distribuição do que precisamos para viver. Portanto, o apoio mútuo pode sustentar de maneira mais humana a saúde mental da sociedade.
Sucre, Bolívia, 29 de julho de 2024.







Sérgio Vaz
Autor de nove livros. Completa, em dezembro de 2024, 36 anos de poesia. É cofundador do Sarau da Cooperifa (2001), movimento cultural que transformou um bar na periferia de São Paulo em centro cultural. Também é agitador cultural e chegou aos 60 anos em 2024.
É muito difícil falar dos dias de hoje, em que acabo de completar 60 anos, sem olhar para os dias vividos, desperdiçados e para os dias que me trouxeram até este texto em que as palavras vão atingir pessoas, que assim como eu estão com a vista cansada, mas com a alma cheia de esperança de um corpo menos perecível.
Outro dia, há mais de 40 anos, quando estava fazendo 20 anos e a vida escorria de forma mágica apesar dos truques da vida, havia na superfície da pele a juventude estampada no rosto que anunciava que o futuro simplesmente não existia e que estar vivo, no lugar onde vivia, e ainda hoje vivo, era quase um milagre. É engraçado crescer num lugar em que dá medo ficar velho, mas torcer para envelhecer e saber que muitos daqueles que eu conhecia não tiveram a mesma oportunidade, e muitos também não terão. Em São Paulo, de acordo com o CEP onde você mora a vida pode ser mais curta ou mais duradoura.
E hoje, após completar 60 anos, contemplo meu rosto no espelho e, com toda poesia que o destino me deu direito, consigo ver as rugas com o mesmo desprezo que vi as espinhas pela primeira vez.
Quando se tem pouca coisa para ser feliz, ser criança é o melhor remédio para suportar as lembranças que vão nos atormentar na vida adulta.
E quando o tempo não era cruel e fingia que não nos conhecia, descíamos as ladeiras em naves exóticas de tábua de compensado e asas de rolimã, empinávamos pipas em dias sem vento e a vida rodava como um pião e batia como uma bolinha de gude. Empinávamos pipas em dias sem vento em busca de um céu para poder voar, e jogando bola nos campinhos de terra, onde o futebol era também o esconderijo de crianças tristes e solitárias, descalças ou não, uns chutavam a bola, outros a vida. Era um tempo bom, esse quando os ponteiros do relógio nos atingiam feito flechas e nossos peitos abriam fendas por onde a alegria, ainda que rala, nos penetrava com o suor da eternidade.
Gosto de ler desde que me conheço por gente, apesar da vida simples e sem poesia, os livros sempre foram meus melhores amigos na infância e na adolescência.
É como se as pessoas dissessem que eu tinha envelhecido apesar do rosto coberto de espinhas.
E acreditando nisso escrevi Coração de Criança Não Morre, um conto sobre a criança que fui e que coloco abaixo para vocês lerem. Para envelhecer sem dever nada ao passado.
Segue o conto:
No meio da noite, assim feito quem recebe uma intimação da insônia, Gabriel acorda pontualmente para mais uma noite de pensamentos que se cruzam entre o passado e o presente. Entre o real e o imaginário. É mês de aniversário, e completar 60 anos tem deixado o Poeta à mercê das lembranças que espreitam nas esquinas mal iluminadas do coração.
Ao seu lado Carolina respira macio o sono profundo de quem tem sintonia com o corpo e o cansaço dos dias. Ela tem o sono leve, então ele pensa baixinho e vela seu sono para ela não acordar. Ou quem sabe para assistir ao seu despertar.
O quarto está tão escuro que seus pensamentos brilham como estrelas cadentes que o guiam pelo corredor até o vazio da sala. E no silêncio da casa, só o barulho dos móveis, que parecem gritar de saudade do tempo em que eram árvores e não penteadeiras.
Sente o chão gelado e volta para pegar o chinelo.
Acende a luz e dá de cara como a estante repleta de livros, que são como fotografias que registram em palavras os negativos e positivos da sua história. Há entre eles biografias que ele queria ter escrito ou vivido. Por isso sempre que pode os relê como quem vê filmes antigos.
Olha para a estante e vê sua coleção de livros como troféus que conquistou ao longo de todos esses anos. “Será que se não fossem os livros ele estaria ali?”, pensou.
Passa os olhos em alguns, quem sabe para esperar o sono, e sem querer dá de cara com os livros que escreveu.
E sem saber ainda por quê, os vê como capítulos dos dias sem vento, como uma pipa que dançava no céu à procura de uma nuvem pra poder descansar. São dez livros que escreveu. Ou que sonhou. A essa altura da vida, tanto faz. Viver e sonhar dão ótimos poemas.
Pega o primeiro, que escreveu há 35 anos, começa a folhear ainda em pé os velhos poemas e sorri envergonhado feito uma criança que acaba de cometer uma traquinagem.
Será que a poesia envelhece?
E
hoje, após completar 60 anos, contemplo meu rosto no espelho e, com toda poesia que o destino me deu direito, consigo ver as rugas com o mesmo desprezo que vi as espinhas pela primeira vez.
Olhou para os poemas cheios de rugas e achou que mereciam uma cirurgia plástica. Ameaçou sorrir, mas achou a piada tão sem graça que olhou em volta para ver se ninguém estava olhando. Os tímidos nem sozinhos encontram paz.
Na página amarelada pelos dias leu um dos seus primeiros poemas “... os sonhos são frágeis ao menor toque de realidade podem se quebrar”.
Leu de novo com os olhos umedecidos pelas palavras que ainda navegavam pela última estrofe. Poderia até escrever um poema sobre isso, como a vida pode ser um barco, que singra, que sangra, que salva um náufrago de uma ilha perdida. Ou que encontra uma garrafa com o mapa do tesouro. Ah, essa onda que vem e vai, enquanto a Pessoa vai desafogando os dias imprecisos.
Na solidão um poema sempre chama. Será isso que chamam de inspiração?
Leu mais um que falava sobre esperança e como colher do sol a semente do amanhã e no fundo não quis admitir para si mesmo, mas lembrou com alegria esse pedaço de juventude. Essa fatia do calendário que passa tão rápido que, quando a gente percebe, as marcas já nos roubaram até as melhores lembranças.
Sentou-se para ler melhor.
E se a poltrona tivesse um cinto de segurança, teria colocado. Sabia que olhar para o passado era uma viagem cheia de turbulências. Ia decolar, mas não sabia quando ou se ia aterrissar.
Puxou outro livro, o segundo. E folheou seus poemas aleatoriamente. E passou a noite em companhia do passado.
Quando acordou notou que tinha dormido na sala e estava com o corpo meio desconfortável.
Espreguiçou-se, recolheu os livros que estavam esparramados no chão e devolveu-os nos seus devidos lugares.
“Que horas são?”
Passou pela cozinha, tomou um copo com água e olhou para o relógio na parede. Nove e trinta de uma nova manhã.
Carolina, sua mulher, saiu cedo. No hospital em que trabalha estão fazendo redução de funcionários. As folgas estão cada vez mais raras. Já não sabe quem está internada, se é ela ou os pacientes.
Gabriel colocou a água para ferver pra fazer um café e foi tomar um banho rápido. Enquanto tomava banho pensou no que iria fazer durante o dia.
Olhou a televisão e se imaginou vendo as notícias. Tudo velho de novo. Desistiu. Há tempos não via TV com o mesmo entusiasmo da adolescência.
Olhou pela janela e viu o sol escondido atrás da cortina.
“Vou dar uma volta na rua.”
Gabriel colocou um agasalho e um tênis de fazer caminhada e saiu de casa meio sem saber por onde ir. Resolveu dar uma volta no bairro onde foi criado, coisa de uns 5 km do seu endereço atual.
Apesar de passar sempre por lá, na sua quebrada, já fazia muito tempo que não fazia esse percurso a pé, olhando casa por casa onde passou sua infância e adolescência. Passou várias vezes de carro e sempre nos locais tradicionais, casas de amigos, bares e família. Mas de carro, todo mundo sabe, as coisas vão ficando para trás com muita velocidade.
Já no portão sentiu o sol lhe abraçando ainda com os braços curtos, porém aquecendo o corpo inteiro. Do outro lado da calçada uma vizinha regava o jardim e falava com as flores, e pelo jeito as flores entediam tudo, pois o jardim estava florido.
Animado, resolveu travessar a rua para dizer um
bom-dia, e quem sabe ter um bom dia também.
Chegando, conseguiu ver o brilho do sol refletido nas folhas e entendeu o porquê de pétalas tão imponentes. E de lá, subiu aquele cheiro de terra molhada que há muito não sentia.
Ao passo na velocidade de segundos, que deve ter durado mais ou menos meia hora. Lembrou do tempo que já havia sentido esse cheiro de “era uma vez...” e que já tinha escrito sobre isso num dos seus livros...
Umas das coisas mais bacanas da infância era tomar banho de chuva na rua. O futebol rolando... Os nossos corpos miúdos abençoados pelo suor da vida, um coração pequeno sambando dentro do peito e, de repente, como uma benção dos deuses, a chuva vinha e varria todas as impurezas da nossa realidade.
E se você que está lendo este livro fechar os olhos aos poucos, é bem capaz que você consiga sentir o perfume de terra molhada que estou sentindo. Corríamos como loucos de um lado para outro gritando palavras desconexas e tentando engolir toda água para o céu de nossas bocas. De braços abertos, ríamos como anjos embriagados e afrontávamos a tristeza que, frequentemente, insistia em nos visitar.
Olhou para os poemas cheios de rugas e achou que mereciam uma cirurgia plástica.
Ameaçou sorrir, mas achou a piada tão sem graça que olhou em volta para ver se ninguém estava olhando. Os tímidos
sozinhos encontram paz.
Com a alma lavada, ainda sob o efeito da vida plena, perseguíamos o arco-íris, não atrás do tal pote de ouro – o ouro já era nossa própria alegria –, mas para contemplar suas cores.
Depois de crescido já me molhei várias vezes (praguejei em todas elas), mas nunca mais tomei banho de chuva. Nunca mais com a aquela mesma alegria. Nunca mais com aquela mesma sede de viver, e como se nunca mais houvesse outro dia.
“Acho que depois que a gente cresce a gente fica pequeno. Hoje, com o coração árido, só consigo cuspir raios e trovões, e sem previsão, quando não garoa, estou sujeito a tempestades.”
Seguiu distraidamente enquanto a memória ia redesenhando as ruas no seu coração. Os olhos seguiam disparados sem respeitar os semáforos. Estava com saudade. As lembranças têm pressa.
Sabia o caminho, mas ia deixar que o vento o guiasse.
Era nítido, estava a fim de se perder.
Chegou perto da ladeira que levava à sua antiga casa –onde passou a infância –, lá no final, à direita, e descobriu
que estava sem inspiração para caminhar. Ia dar a volta pela praça, o caminho é mais longo, mas é mais leve.
Resolve dar uma parada.
Senta-se no banco para contemplar o lugar que um dia já foi um campinho de terra em que ajudou a tirar o barranco para poderem jogar futebol. Às vezes não tinha jogo porque no bairro inteiro ninguém tinha uma bola. A vida se resumia a quem tinha Kichute ou chuteira.
Os brinquedos, balança, gangorra... já estavam meio gastos e a grama alta não disfarçava o abandono do velho parquinho.
Uma mulher empurrava uma menina numa bicicleta com rodinhas e um rapaz passeava com um cachorro enorme de raça não definida que se esgoelava na coleira, mal-humorado, achando que eu era o vira-lata. Os carros passavam sem pressa, parece que ninguém estava a fim de chegar a lugar algum. Acho que as vezes é o mundo que dá volta na gente.
“Todo mundo cheio de celular, deve ser por isso que as praças estão vazias”, pensou com tristeza, mas não ia cair no conto do “aquele tempo que era bom...”. Estava se sentindo nostálgico, mas não era para
tanto. O passado às vezes tem mais surpresas que o futuro.
Deu uma olhada no celular para ver se tinha alguma mensagem importante, e de repente já estava trabalhando novamente. O telefone é o escritório dos tempos modernos e fica aberto 24 horas por dia. Desligou.
Ficou neste transe filosófico e nem percebeu que diante dele havia um menino o olhando fixamente. Chegou assim do nada e já soltou:
— Cadê minha mãe?
O menino não devia ter mais do que oito ou nove anos. O corpo franzino trazia uma tristeza no olhar que lhe dava um olhar de adulto... Os dias tristes valem por dois. Gente que vive sorrindo parece mais nova do que é.
Pardo, despenteado, uma camiseta surrada, calça com um rasgo na perna, chinelo de dedo com um grampo de cabelo para continuar agarrado no pé.
O Poeta olhou à sua volta e pareceu que todo mundo tinha sumido como num passe de mágica.
E respondeu: — Não entendi.
— Cadê minha mãe?
Deu novamente uma olhada na praça e não viu mais ninguém, nenhuma mulher com jeito de mãe que está procurando o filho.
Os olhos dele estavam secos, mas notou que tinha chorado. As lágrimas deixaram rastros no seu rosto da criança.
— Você está perdido?
— Não, quem está perdida é minha mãe.
— O que aconteceu?
— Ela sumiu.
— Como assim?
— Na semana passada, quando acordei ela não me beijou pela manhã e fui ao quarto dela, não estava.
— Assim do nada?
— Ela simplesmente sumiu.
— Mães não somem assim.
— À noite ela me abraçou e disse que me amava muito. Quando acordei ela já não me amava mais. Devo ter feito alguma coisa que ela não gostou.
— Deixa disso menino! Cadê seu pai?
— Trabalhando, mas à noite
a está procurando também, só que ele não sabe.
— Não entendi.
— À noite ele chora baixinho, mas dá para ouvir da sala.
— Ele sabe que você está na rua?
— Não sei.
— Como assim não sabe?
Você é muito pequeno para andar na rua sozinho.
— É que seu achar minha mãe ele fica contente também.
— Qual a cor da sua mãe? – pergunta o Poeta.
— Minha mãe tem a cor da noite e os olhos afogados. E de tanto chorar acabou me afogando também. Já meu pai tem a pele tecida pelo sol. E eu nasci com essa cor da madrugada, que é quando as estrelas vão se despedindo.
O Poeta suspira porque havia esquecido o quanto era bonito. E de como a beleza não está nos olhos de quem vê, e sim de quem vive.
Não sabia por quê, mas aquele menino lembrava alguém. Devia ser filho de algum amigo. Ou neto. A roupa que ele vestia, aquele rosto miúdo, aquele corpo tal qual um graveto, aquela voz de abandono...
Ou será que só tinha escrito sobre isso e estava tentando sincronizar as coincidências?
Poesia tem dessas coisas, às vezes escreve algo que já aconteceu antes de acontecer. E quando acontece você fica sem entender.
“De onde será que conheço esses olhos tristes?”, pensou.
Esqueceu de perguntar seu nome.
— Qual o seu nome?
— Me chamo Gabriel – o menino respondeu.
— Também me chamo Gabriel.
O Poeta achou estranha a coincidência, mas achou que poderia tirar vantagem para tentar descobrir um pouco mais sobre ele.
Não era certeza, mas achava que já tinha visto a foto dele em algum lugar. Ou quem sabe num cartaz de “procura-se menino perdido”.
— Quanto anos você tem?
— Vou fazer nove em junho.
— Puxa eu também faço em junho, só que vou fazer 60.
— Que dia o senhor faz?
— Dia 26.
— Eu também.
Aquela manhã que estava estranha ficava cada vez mais. “Eu já vi esse menino em algum lugar”, era só o que conseguia pensar.
— Se sua mãe não está em casa, quem está tomando conta de você?
— A minha vizinha.
— Ela deve estar preocupada. Ela sabe onde você está?
— Acho que não. Ela tem outros filhos para cuidar.
— Você tem irmãos?
— Dois.
— Cadê eles?
— Sei lá. Eles estão brincando na rua.
— Qual o nome da sua mãe?
— Maria José.
— De quê?
— Garcia.
Era o mesmo nome da sua mãe. O Poeta estava cada vez mais perdido, assim como a mãe do menino.
Não sabia por quê, mas aquele menino lembrava alguém. Devia ser filho de algum amigo. Ou neto. A roupa que ele vestia, aquele rosto miúdo, aquele corpo tal qual um graveto, aquela voz de abandono... Ou será que só tinha escrito sobre isso e estava tentando sincronizar as coincidências?
— E o nome do seu pai?
— Miguel Garcia.
O menino tinha o mesmo nome que ele. O pai e a mãe com o mesmo nome e a data de nascimento do mesmo dia. Nada parecia fazer sentido.
Já o tinha visto em algum lugar, sua memória não o trairia.
De repente uma melancolia invadiu seu coração e sem que percebesse tudo no entorno ganhou cores desbotadas. As nuvens deslizavam no céu, ecléticas figuras geométricas como num imenso carrossel.
O asfalto tinha sumido e um aviãozinho de papel voava de um lado para o outro.
Lavou o rosto, só não sabia de onde tinha saído a água.
“Esse menino parece alguém que conheço.”
“Esse menino parece alguém que já fui.” Palavras que ecoavam em sua cabeça. Embriagado de incertezas e debilitado de realidade seguiu duvidando de sua sanidade.
A criança agora brilhava e girava feito um caleidoscópio.
— Você sabe onde você mora? – ao fazer essa pergunta sentiu que suas
palavras reverberavam pelo ar como notas musicais.
Ao som de tambores, o moleque respondeu:
— Rua Machado de Assis, 1.964, Jd. das Palavras. Divisa com o Parque Lima Barreto.
“Não pode ser, esse menino sou eu!”, gritou em pensamento.
Sufocado pelo momento inusitado, engoliu em seco as palavras que iria pronunciar. O mais estranho é que o garoto assistia a tudo como se já tivesse entendido o que estava acontecendo.
“Nossa senhora da literatura, esse deve ser o verdadeiro milagre da poesia”, pensou, dirigindo seu olhar para o céu.
Ele havia reencontrado a criança que um dia foi, que sempre havia procurado.
— Eu sou você, sabia? –achou estranho como soou sua afirmação, mas agora tudo parecia tão idílico que não duvidava de mais nada.
— Eu sei! – disse o menino, categórico.
— Como você sabe?
— Sempre ouço você me chamando nas noites frias em que a saudade te cobre
de solidão. Então é você que me socorre? – pergunta o menino, cheio de gratidão.
— Na verdade não, quando você chora eu choro também –disse o Poeta, entre lágrimas.
O menino sentou-se ao lado do Poeta e disse baixinho em seus ouvidos.
— Tem abraço que enxuga lágrimas.
Abraçou-o por um período que ainda não consta nos relógios. Num tempo que o universo ainda não sabe contar.
— Pois é, tem palavras que chegam como um abraço. E tem abraço que não precisa de palavras – o Poeta não falava, recitava.
— Nem sempre quem tem casa, tem lar. Conheço gente que mora no abraço do amigo – o menino já falava como poetinha.
Agora, o velho sabe que estes poemas sempre estiveram em sua vida, nos labirintos do seu coração. E que foram surgindo assim como passarinhos fugindo da gaiola com medo de voar.

— A gente vai crescendo e as lembranças vão ficando pequenas. E, de repente, a gente não lembra mais. É quando a gente não sente mais saudade, mas quer saber o porquê viramos apenas recordação na vida das pessoas.
O homem não estava alegre nem triste. Lembrou do poema de Cecília Meireles. Só estava um pouco confuso.
— Júnior, posso te chamar de Júnior?
— Pode, mas por quê?
— Para quem estiver lendo não se confundir.
O próprio Poeta não entendeu quando disse isso. “Será que estavam no meio de um livro?”
Ambos estavam curiosos sobre a vida do outro. Júnior queria saber o que havia acontecido com o futuro e Gabriel queria redescobrir o passado.
— Você encontrou minha mãe?
— Sua mãe montou num cavalo com asas e sumiu entre as nuvens.
— Ela nunca mais voltou?
— Quando ela voltava era você que havia sumido.
— Como assim?
— A gente vai crescendo e as lembranças vão ficando pequenas. E, de repente, a gente não lembra mais. É quando a gente não sente mais saudade, mas quer saber o porquê viramos apenas recordação na vida das pessoas.
— Isso é bom? – o menino não quer uma resposta, quer um mertiolate para a alma.
— Se fosse bom não estava aqui falando com você sentado nesse banco perdido em mim mesmo – o Poeta falou feito quem procura a cura do câncer.
O Gabriel pergunta para o Júnior quais são os dias que dói mais.
— Quando eu vou estudar tenho que esperar as mães dos meus amiguinhos arrumálos para irmos juntos para a escola. A cobrança dos dentes escovados, as meias limpas, o beijo de despedida no portão de casa.
— O que você sente?
— Inveja. Queria ter uma mãe para mim. Queria aquele carinho. Queria aquela bronca.
— Agora me lembro disso. Sobrevivi sem esse carinho.
— Ela morreu?
— As mães não morrem, são eternas. É por isso que devemos aproveitar os momentos, porque a gente vai morrendo aos poucos. Você ainda vai chorar muito. Você vai rir muito. Quanto mais se vive menos se morre.
— Essa dor nunca vai passar?
— Um dia você vai escrever tudo isso e quem não tiver mãe ou pai vai chorar também. E a ironia do destino é que toda essa água que vai te afogar pode salvar muita gente do afogamento. É quando um poema prende a respiração para que outra pessoa possa respirar.
— Eu vou ser feliz?
— Sabe empinar pipa?
— Sim, estou aprendendo a fazer, mas ainda não sou bom na laça.
— É mais ou menos isso. A Felicidade vai ficar mandando busca e a vida vai passando o cerol na nossa linha do tempo. Os sonhos enroscam nos fios e gente vai desbicando as pipas, empinando nos dias sem vento à procura de um céu para poder voar. Ser feliz ou não vai depender a forma que você olhar o mundo. Com o tempo você vai saber definir o que são essas coisas. O segredo está em aprender a ressuscitar.
Um caminhão com um altofalante passa avisando que domingo no circo vai ter trapezista, leão, uma moto no globo morte, a mulher que vira gorila e palhaço, um monte de crianças segue o cortejo à procura de um ingresso para o paraíso, como na fantástica fábrica de chocolate.
— Você já foi no circo? – Júnior quis saber.
— Sim, é maravilhoso.
“A primeira vez foi como vendedor de chocolate. Outros meninos passavam por debaixo da lona”, lembrou o Poeta, mas não disse nada. Gabriel não quis entrar na realidade daqueles dias para não desanimar o menino e frustrar a sua fantasia. Esse maravilhoso ficou por conta da vez que foi ao circo quando era quase adulto.
— Quanto anos você tinha? – Júnior quis saber para fazer as contas de quando iria chegar a sua vez.
— Uns 12 ou 13, mais ou menos. Passa num passe de mágica – até o Poeta riu da bobagem que falou.
— Eu vou ser médico?
— Não será um doutor, mas vai usar as palavras para curar feridas que as pessoas não veem, e que muitas vezes não sabem que existem, mas vão descobrir que precisam.
O poeta estava sendo sincero com o garoto sem se preocupar se ainda o feria mais, porém lembrou que já nessa idade era capaz de entender certas coisas e que não ia ser inventando estórias para si mesmo que as coisas iam mudar no futuro.
Ele lembra que aos nove já era um adolescente. Aos 12 anos já vendia sorvete na rua. Aos 15 já era balconista de um bar. Ser pobre faz com que a velhice chegue antes das rugas.
— Acho que vou ser jogador de futebol. Meu sonho é ter uma chuteira – Júnior não entendia direito o que estava acontecendo e muitas vezes se esquecia que estava falando com o Poeta e que o Poeta era ele quando crescido.
— Aqui nessa praça vai ser o campinho em que você vai jogar por muito tempo. Descalço, de chinelo, com Kichute, de chuteira, esse lugar vai te abraçar como você queria que tua mãe e teu pai fizessem. Você vai chutar a bola e as pedras por uma vida inteira. Vai ser não um jogador, mas um colecionador de pedras.
— O futebol é onde encontro minha felicidade. Quero ser jogador de futebol profissional – o moleque apontou para uma bola que passava sozinha naquele momento e que sorria para os dois.
— Você vai ser melhor do que isso, vai jogar futebol de várzea e sua carreira nunca vai ter fim.
— Que da hora – sorriu o menino.
— Que bom que você falou isso, moleque.
— Por quê?
— A Felicidade tem amnésia, é preciso lembrá-la todo dia que você existe.
— Poeta?
— Fala.
— Eu fiz muitos gols?
— Quando a vida fazia gol contra, você dava dribles desconcertantes no destino. Suas pernas pareciam asas. Você fez tantos gols maravilhosos que a dor, nesses dias, parecia que não entrava em campo. E você e seus amigos jogando em campos tão difíceis, cheios de pedras, buracos e barrancos vão se abraçar a cada vitória. Mesmo morando em lugares simples, você vai descobrir que nem sempre quem tem casa, tem lar. E que muitas vezes vocês vão morar nesse abraço amigo.
— Eu fui campeão?
— Sempre, mesmo quando perdeu. Os calos nos pés são cicatrizes dessas batalhas. Essa lama em teus pés deixará pegadas profundas para os meninos e meninas que virão. Vai ver vencedores nos olhos de muitos derrotados. Dignidade é tudo.
— As meninas também jogam bola no seu tempo?
— Sim, jogam um bolão.
O futuro é uma caixinha de surpresas, há, há, há – o Poeta nunca pensou que ia usar esse clichê do futebolês.
— Meus amigos também?
— Nem todos. Alguns perderam o jogo antes mesmo de entrarem em campo
— Não entendi.
— Às vezes a vida bate na trave. Um dia você vai entender as regras.
Engraçado, o Poeta lembrou de um outro poema:
“A Felicidade era um lugar estranho.
Lá, os meninos, após a chuva,
comiam o arco-íris e saiam coloridos
pela rua jogando futebol.
O futuro era decidido no par-ou-ímpar,
e o passado, simplesmente não existia.”
Essas boas lembranças fizeram o Poeta entender por que de vez em quando ficava rindo sozinho. Era riso represado.
A criança interrompe o transe poético:
— Estou com fome.
Há dias com sol, há dias com chuva e tudo molha por dentro. Às vezes a Poesia é para a gente tentar entender que nem tudo é desespero, nem tudo é solidão. E sorrir com o coração é algo tão raro que nem a boca sente quando isso acontece.
— Não comeu nada hoje?
— Não, acordei e saí para procurar minha mãe.
O Poeta abriu uma mochila que estava em sua mão que também não sabia de onde tinha vindo e, a essa altura, pouco interessava. O dia estava maluco e isso bastava.
— Coma esse livro, Quarto de Despejo, da Carolina de Jesus.
O menino estica suas mãos até o livro e morde com tanta pressa que as páginas lambuzam sua boca.
— Este livro é bom, mas não tem açúcar – disse o menino com cara de quem estava com muita fome.
— Esse é o pão da vida real, e outra coisa, açúcar faz mal – retrucou o Poeta.
– Come esse Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, que é bom também.
— Hummm, tem gosto de sonho. Igual aquele da padaria.
O menino estava com tanta fome que não deixou cair uma letra no chão. Quase satisfeito falou ao poeta:
— Toda essa comida me deu sede.
— Isso não é comida, é alimento – e estendeu um livro do poeta Mário Quintana – beba um pouco dessa poesia.
O menino bebeu e comeu até a barriga parecer ficar cheia. Mas ainda não se sentiu satisfeito. O Poeta sentiu a mesma fome que ele e aproveitou para lanchar também. Beliscou um Dom Casmurro, de Machado de Assis, e Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves.
— Poeta, engraçado, minha barriga está explodindo e continuo com fome e com sede.
— Menino, Literatura, quanto mais você come, mas você tem fome, Poesia quanto mais você bebe, mas você tem sede. Quando tudo isso que você consumiu subir para tua cabeça teu corpo vai ficar leve. Tua cabeça vai fervilhar e você vai enxergar melhor.
Quando terminou seu discurso, do nada dois personagens, Diadorim e Riobaldo, batiam palmas e gritavam:
— Viva Grande Sertão: Veredas! Viva Grande Sertão: Veredas!
Já que o dia estava doido mesmo, Graciliano Ramos colocou a cadela Baleia de Vidas Secas para correr atrás dos dois cangaceiros.
O menino, já meio tonto com tanta informação, perguntou ao poeta:
— Você conhece toda essa gente?
O poeta respondeu:
— Sim, e você também vai conhecer. Esses personagens e outros mais serão seus amigos para o resto da vida. A palavra vai ser por onde sua humanidade vai passar.
— Mas eles parecem todos malucos – e riu de rachar o bico, feito o chapeleiro maluco.
E o poeta riu também. E os dois ficaram rindo por horas. Ou dias. Quem sabe?
— Poeta?
— Fala.
— Até parece que a tristeza passou.
— Ela está aí, assim como a alegria – disse o Poeta. — Há dias com sol, há dias com chuva e tudo molha por dentro. Às vezes a Poesia é para a gente tentar entender que nem tudo é desespero, nem tudo é solidão. E sorrir com o coração é algo tão raro que nem a boca sente quando isso acontece.
— Viver é isso? – quis saber o menino.
— É isso e muitas outras coisas. Esqueça o futuro, curta o presente. Só não esqueça,
viver dói, mas é um privilégio estar vivo. Por isso seja grato. Haverá dias que você achará que a vida não vale a pena por conta dos problemas, e você vai aprender que enxugando as lágrimas o coração foi ficando seco, escorrendo suor e o rosto longe do lenço deixa os olhos mais atentos. Derramar sangue na veia alheia deixa o corpo tenso. Mil vezes acham que te mataram e que você sofre, e já nem morre mais, nem por fora nem por dentro. Cicatrizes no peito são feridas de vento, elas vão e vem, em silêncio. Respira, segue em frente, a dor é só um desmaio, não é falecimento.
— Poeta?
— Fala.
— A gente aprende tudo isso quando fica velho?
— Acho que quando a gente aprende a envelhecer, rejuvenesce.
— Obrigado por me visitar em sonho.
— Eu que agradeço.
— Por quê?
— Porque depois deste sonho eu agora não quero ser mais o seu pai, quero ser seu amigo.
Enquanto o futuro não se decide, o agora parece uma boa opção.
normas para publicação de artigos
A revista : Estudos sobre Envelhecimento é uma publicação multidisciplinar, editada desde 1988 pelo Sesc São Paulo, de periodicidade quadrimestral e dirigida a estudantes, especialistas e interessados na área do envelhecimento. Tem como propósito estimular a reflexão e a produção intelectual no campo da gerontologia e das áreas em que o envelhecimento e a longevidade são objetos de estudo. Seu objetivo é publicar artigos de divulgação técnicos e científicos que abordem os diversos aspectos da velhice (físico, psíquico, social, cultural, econômico etc.) e do processo de envelhecimento.
normas gerais
Os artigos devem seguir rigorosamente as normas abaixo, caso contrário, não serão encaminhados para a comissão editorial.
• Os artigos devem ser enviados para o endereço eletrônico: revistamais60@ sescsp.org.br.
• Os artigos não precisam ser inéditos, basta que se enquadrem nas normas para publicação que serão apresentadas a seguir. Quando o artigo já tiver sido publicado deve-se, obrigatoriamente, informar em nota à parte sob qual forma, onde e em qual data foi publicado (revista, palestra, comunicação em congresso etc.).
• Ao(s) autor(es) será(ão) solicitada a Cessão de Direitos Autorais – conforme modelo Sesc São Paulo –quando da aceitação de seu artigo. Os direitos de reprodução (copyright) serão de propriedade do Sesc São Paulo, podendo ser reproduzido novamente em outras publicações técnicas assim como no Portal Sesc São Paulo (sescsp. org.br), aplicativo e redes sociais desta instituição.
• Os dados, bem como as
interpretações dos resultados emitidos no artigo são de inteira responsabilidade dos autores, não refletindo, obrigatoriamente, a opinião da comissão editorial da revista.
• Todos os artigos enviados que estiverem de acordo com as normas serão analisados pela comissão editorial, que opinará sobre a pertinência ou não de sua publicação. No caso de o artigo ser aceito o(s) autor(es) correspondente(s) será(ão) contatado(s) por e-mail e terá(ão) direito a receber 1 (um) exemplar da edição em que seu artigo foi publicado.
• Os artigos devem apresentar uma breve nota biográfica do(s) autor(es) contendo: nome(s); endereço completo; endereço eletrônico, telefone para contato; se for o caso, indicação da instituição principal à qual se vincula (ensino e/ ou pesquisa) e cargo ou função que nela exerce.
• Os trabalhos aceitos serão enviados à revisão editorial e apenas modificações substanciais serão submetidas ao(s) autor(es) antes da publicação. apresentação dos artigos
• Os artigos devem ser apresentados em extensão .doc ou .docx e devem conter entre 20.000 e 32.000 caracteres, sem espaço, no total. Isto é, incluindo resumo, abstract e referências bibliográficas.
• Categorias de artigos: resultados de pesquisa (empírica ou teórica), relatos de experiência e revisão de literatura.
• O resumo deve ser estruturado e conter, nesta ordem: introdução, materiais e métodos, resultados e conclusão. Deve conter cerca de 200 palavras e vir acompanhado por até cinco palavras que identifiquem o conteúdo do trabalho, as palavras-chave.
• O abstract deve conter cerca de 200 palavras,
seguir a mesma ordem do resumo em português e vir acompanhado por até cinco palavras que identifiquem o conteúdo do trabalho, as keywords
• O artigo deve conter: introdução; hipótese (opcional); materiais e métodos; resultados; discussão; e conclusão ou considerações finais.
• As referências bibliográficas, notas de rodapé e citações no texto deverão seguir as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
• A quantidade máxima é de 30 (trinta) referências bibliográficas por trabalho. Revisões de literatura poderão conter mais referências. A autenticidade das referências bibliográficas é de responsabilidade única e exclusiva dos autores.
• Gráficos e figuras devem ser utilizados quando houver necessidade para entendimento do texto. Constar sob a denominação “Figura” ou “Gráfico” e possuir boa qualidade técnica e artística. Devem ser enviados separadamente e ter resolução mínima de 300 dpi, tamanho mínimo de 10cm x 15cm, no formato JPG ou PDF. As imagens devem ser numeradas no texto e trazer abaixo um título ou legenda, com indicação da fonte/ autor. Em hipótese alguma devem ser incorporadas no próprio texto do artigo.
Os gráficos devem ser enviados separadamente no formato XLS/XLSX (Microsoft Office Excel) ou PDF.
• Tabelas ou quadros: devem ser autoexplicativos, constar sob as denominações “Tabela” ou “Quadro” no arquivo eletrônico e ser numerados. A legenda deve acompanhar a tabela ou o quadro e ser posicionada abaixo deles. Siglas ou sinais apresentados devem estar traduzidos em nota colocada abaixo do corpo da tabela/quadro ou em sua legenda. Devem ser citados no corpo do texto, na ordem de sua numeração.
• Fotos: no caso de utilização de fotos (necessariamente em alta resolução, mínimo de 300 dpi), elas devem vir acompanhadas de autorização de veiculação de imagem do fotografado e com crédito e autorização de publicação do fotógrafo (segundo o modelo do Sesc São Paulo). Só devem ser utilizadas quando houver necessidade para entendimento do texto.
• A quantidade de imagens, tabelas e quadros deve ser limitada em 4 tabelas ou quadros e 2 imagens por artigo.
• Citações de referências bibliográficas: no texto incluir autor, data e página (quando necessário). Ex: Segundo Silva (2019). Se a citação for entre parênteses: (SILVA, 2019). Neste último caso utilizar a fonte Arial número 10.
• As referências devem ser organizadas em ordem alfabética, pelo sobrenome do autor. Devem aparecer alinhadas à margem esquerda e de forma a se identificar individualmente cada documento, em espaço simples e separadas entre si com espaço de 1,5.
• Materiais extras do artigo podem ser aceitos para a inclusão no aplicativo do Sesc São Paulo, onde a revista também está inserida. Estão incluídos fotos e vídeos em boa resolução e com as devidas autorizações de uso de imagem. Formato das imagens: JPEG, PNG, PDF e TIFF. Vídeos: MPEG4, MP4 e MOV. Áudios: MP3. Também são passíveis de aceitação conteúdos incorporados do YouTube, desde que haja autorização do responsável da conta para sua divulgação. Em caso de dúvida, entre em contato pelo e-mail: revistamais60@sescsp.org.br.
O Sesc – Serviço Social do Comércio é uma instituição de caráter privado, de âmbito nacional, criada em 1946 por iniciativa do empresariado do comércio, serviços e turismo, que a mantém e administra. Sua finalidade é a promoção do bem-estar social, a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento cultural do trabalhador no comércio e serviços e de seus dependentes – seu público prioritário – bem como da comunidade em geral.
O Sesc de São Paulo coloca à disposição de seu público atividades e serviços em diversas áreas: cultura, lazer, esportes e práticas físicas, turismo social e férias, desenvolvimento infantil, educação ambiental, terceira idade, alimentação, saúde e odontologia. Os programas que realiza em cada um desses setores têm características eminentemente educativas.
Para desenvolvê-los, o Sesc São Paulo conta com uma rede de 43 unidades, disseminadas pela capital, grande São Paulo, litoral e interior do estado. São centros culturais e desportivos, centros campestres, centro de férias e centros especializados em odontologia e cinema.
CONSELHO REGIONAL DO SESC – 2022-2026
PRESIDENTE
Abram Szajman
DIRETOR DO DEPARTAMENTO REGIONAL
Luiz Deoclecio Massaro Galina
MEMBROS EFETIVOS
Arnaldo Odlevati Junior, Benedito Toso de Arruda, Dan Guinsburg, Jair Francisco Mafra, José de Sousa Lima, José Maria de Faria, José Roberto Pena, Manuel Henrique Farias Ramos, Marcus Alves de Mello, Milton Zamora, Paulo Cesar Garcia Lopes, Paulo João de Oliveira Alonso, Paulo Roberto Gullo, Rafik Hussein Saab, Reinaldo Pedro Correa, Rosana Aparecida da Silva, Valterli Martinez, Vanderlei Barbosa dos Santos
MEMBROS SUPLENTES
Aguinaldo Rodrigues da Silva, Antonio Cozzi Junior, Antonio Di Girolamo, Antônio Fojo Costa, Antonio Geraldo Giannini, Célio Simões Cerri, Cláudio Barnabé
Cajado, Costabile Matarazzo Junior, Edison Severo Maltoni, Omar Abdul Assaf, Sérgio Vanderlei da Silva, Vilter Croqui Marcondes, Vitor Fernandes, William Pedro Luz
REPRESENTANTES DO CONSELHO REGIONAL JUNTO AO CONSELHO NACIONAL
MEMBROS EFETIVOS
Abram Szajman, Ivo Dall’Acqua Júnior, Rubens Torres Medrano
MEMBROS SUPLENTES
Álvaro Luiz Bruzadin Furtado, Marcelo Braga, Vicente Amato Sobrinho
Baixe grátis essa e outras publicações do Sesc São Paulo, disponíveis em:
nesta edição
O artigo Não se Nasce Fernanda Montenegro, Torna-se Fernanda Montenegro apresenta uma reflexão da pesquisadora Mirian Goldenberg sobre a atriz e a questão do envelhecimento, baseada na obra da autora Simone de Beauvoir.
Em, Envelhecer nos Territórios – Um Direito que Precisa Ser Garantido para Todas as Pessoas Idosas, o Secretário Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, Alexandre da Silva, apresenta o programa desenvolvido por ele e sua equipe que tem como intenção gerar oportunidades para que ações específicas em atenção às pessoas que envelhecem sejam criadas em cada município.
Dignidade nas Favelas É Possível? traz um breve panorama no qual se observa a construção de uma história recente, no Rio
de Janeiro, a Associação Favela Compassiva Rocinha e Vidigal. Uma iniciativa voltada à implementação de cuidados paliativos para populações vulneradas em que a questão urgente do rápido envelhecimento da população brasileira se apresenta, gerando implicações significativas na perspectiva da saúde e na qualidade de vida.
veja também
A entrevistada desta edição é Lia de Itamaracá, a cirandeira completou 80 anos em janeiro de 2024. Cantora e compositora, ela tem o título de patrimônio vivo do estado de Pernambuco e é reconhecida por sua atuação como divulgadora da ciranda no Brasil e no exterior.
Naylana Rute da Paixão Santos escreve o artigo Feminização da Velhice: Desigualdades de Gênero e Impactos no Processo de Envelhecimento.
A feminização da velhice é caracterizada pelo aumento expressivo do número de mulheres em processo de envelhecimento. Este fenômeno decorre da maior mortalidade masculina e do aumento da longevidade feminina, o que não significa, necessariamente, melhor qualidade de vida para estas mulheres que envelhecem.
Em Criança Não Morre –Sobre Rugas e Espinhas, o escritor Sérgio Vaz, que completou 60 anos em 2024, reflete sobre seu próprio envelhecimento narrando o encontro de um autor que envelhece e o menino que ele foi. “É engraçado crescer num lugar em que dá medo ficar velho, mas torcer para envelhecer e saber que muitos daqueles que eu conhecia não tiveram a mesma oportunidade, e muitos também não terão.
Em São Paulo, de acordo com o CEP onde você mora a vida pode ser mais curta ou mais duradoura.”
sescsp.org.br