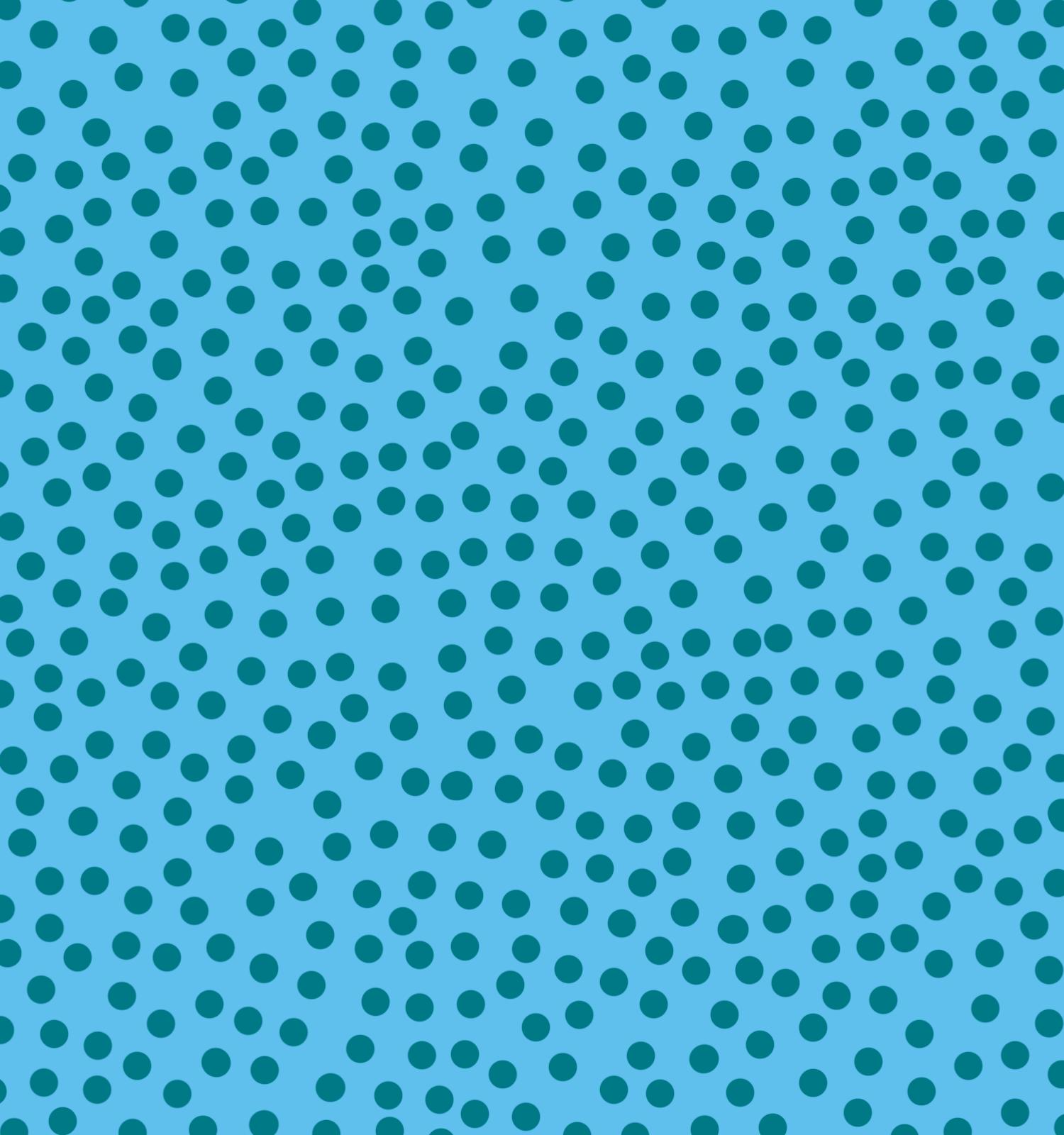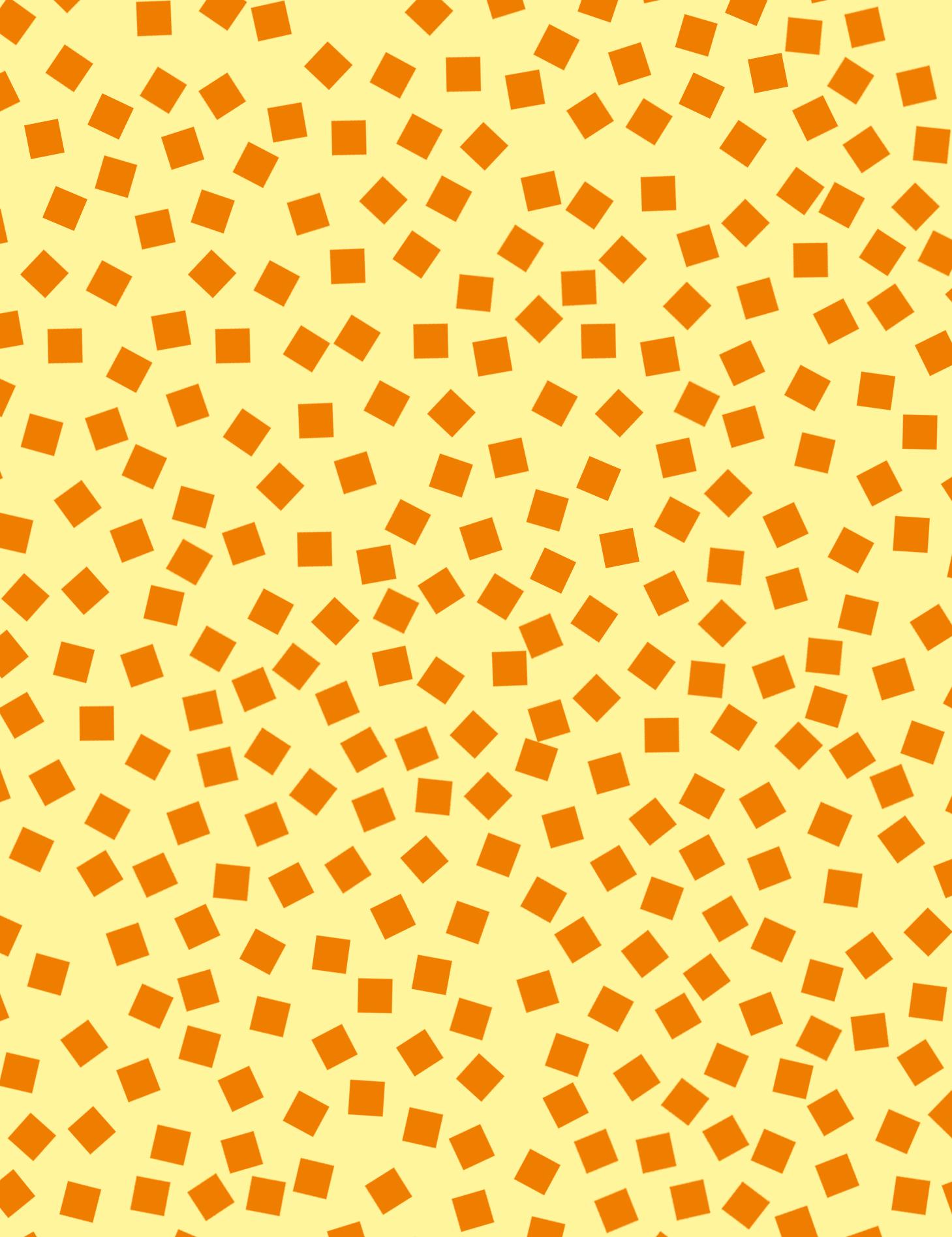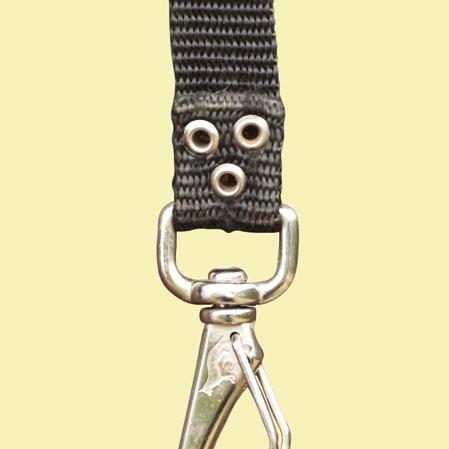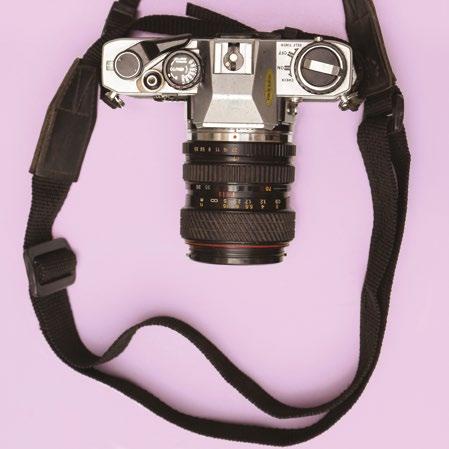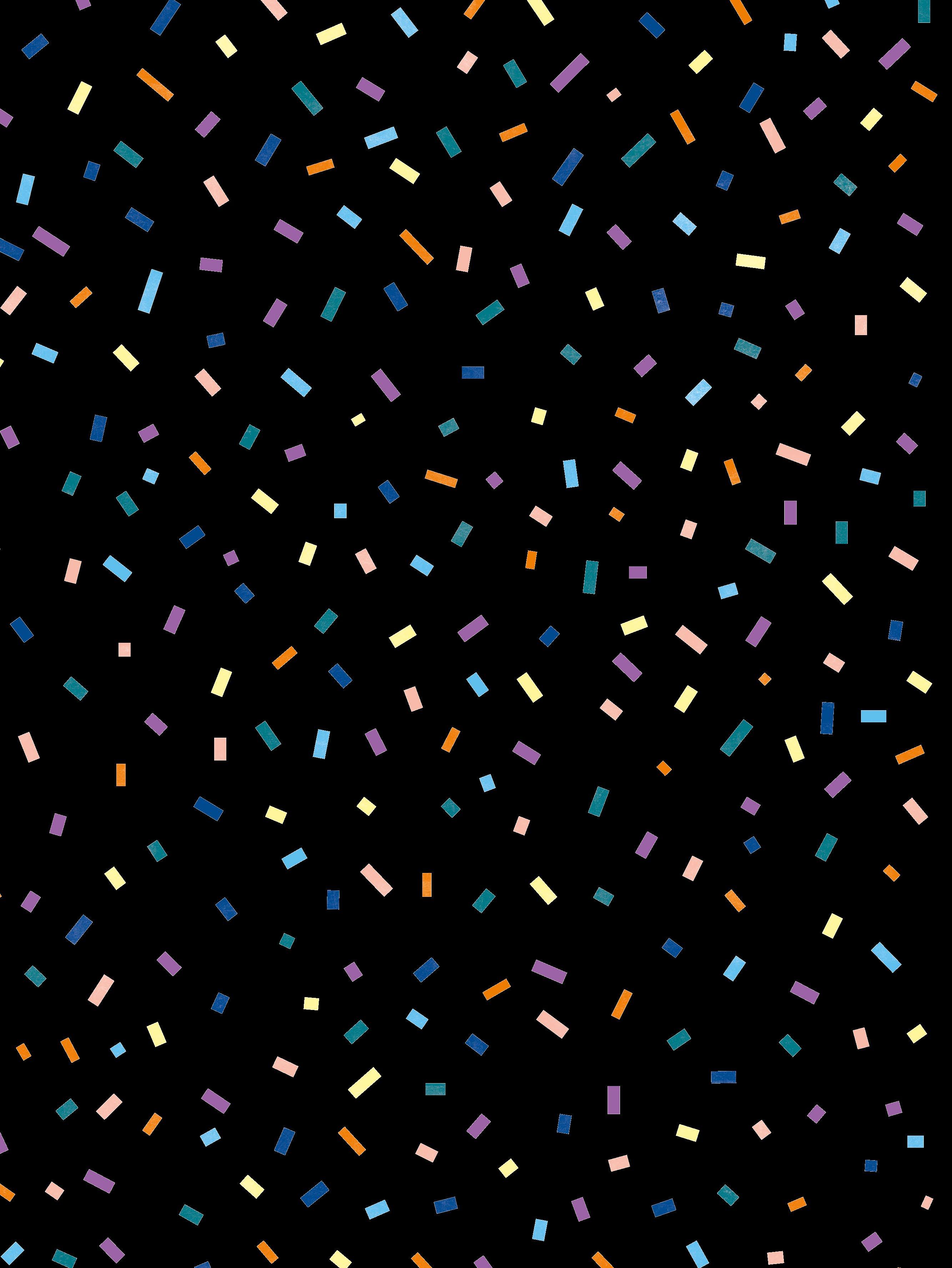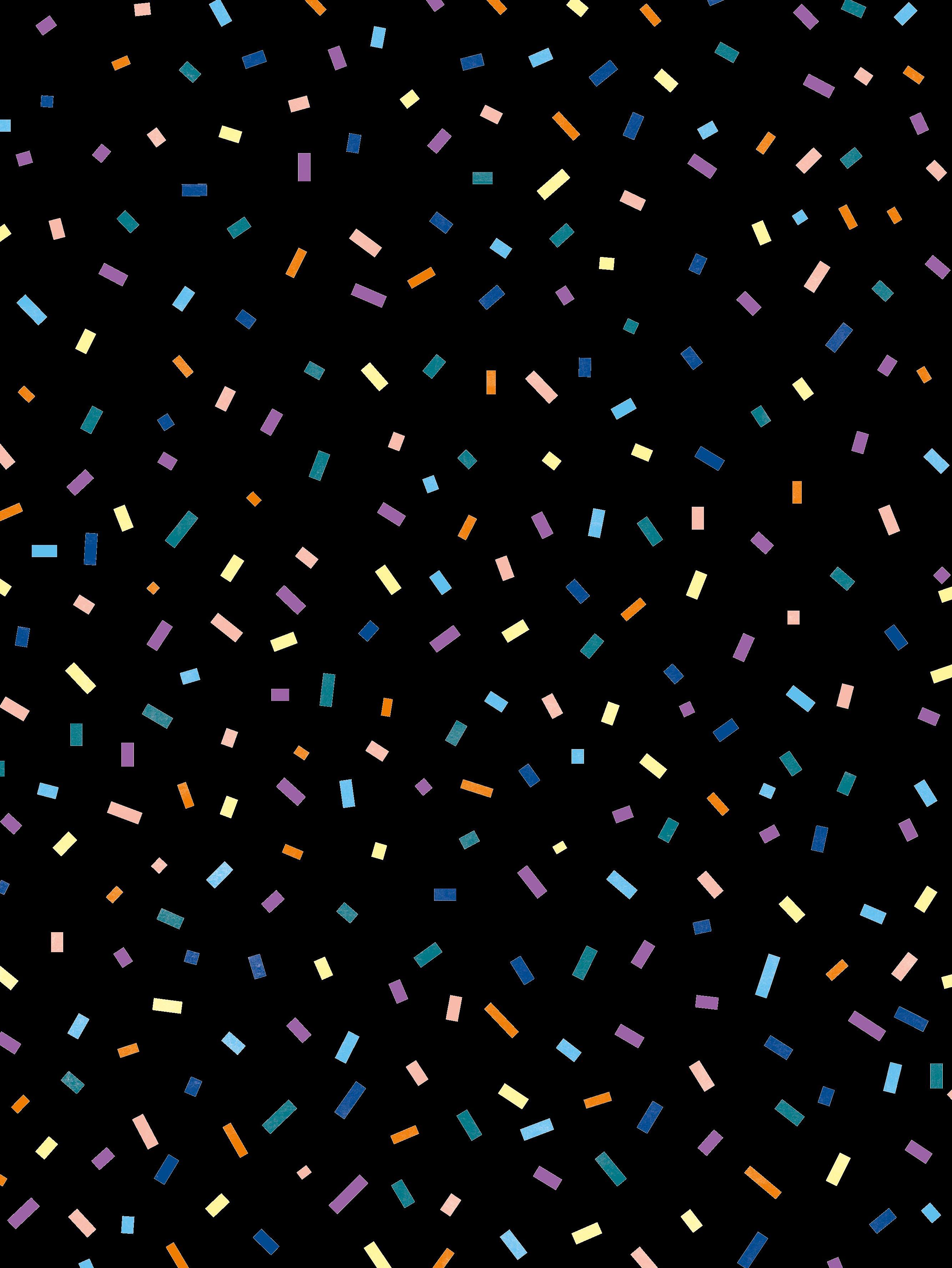


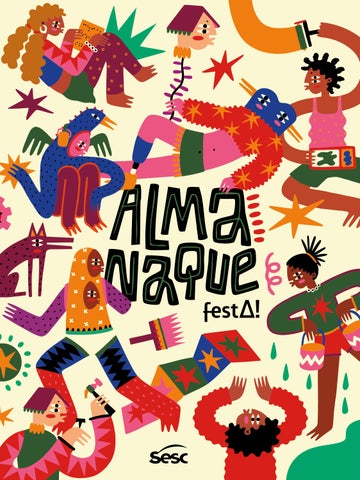
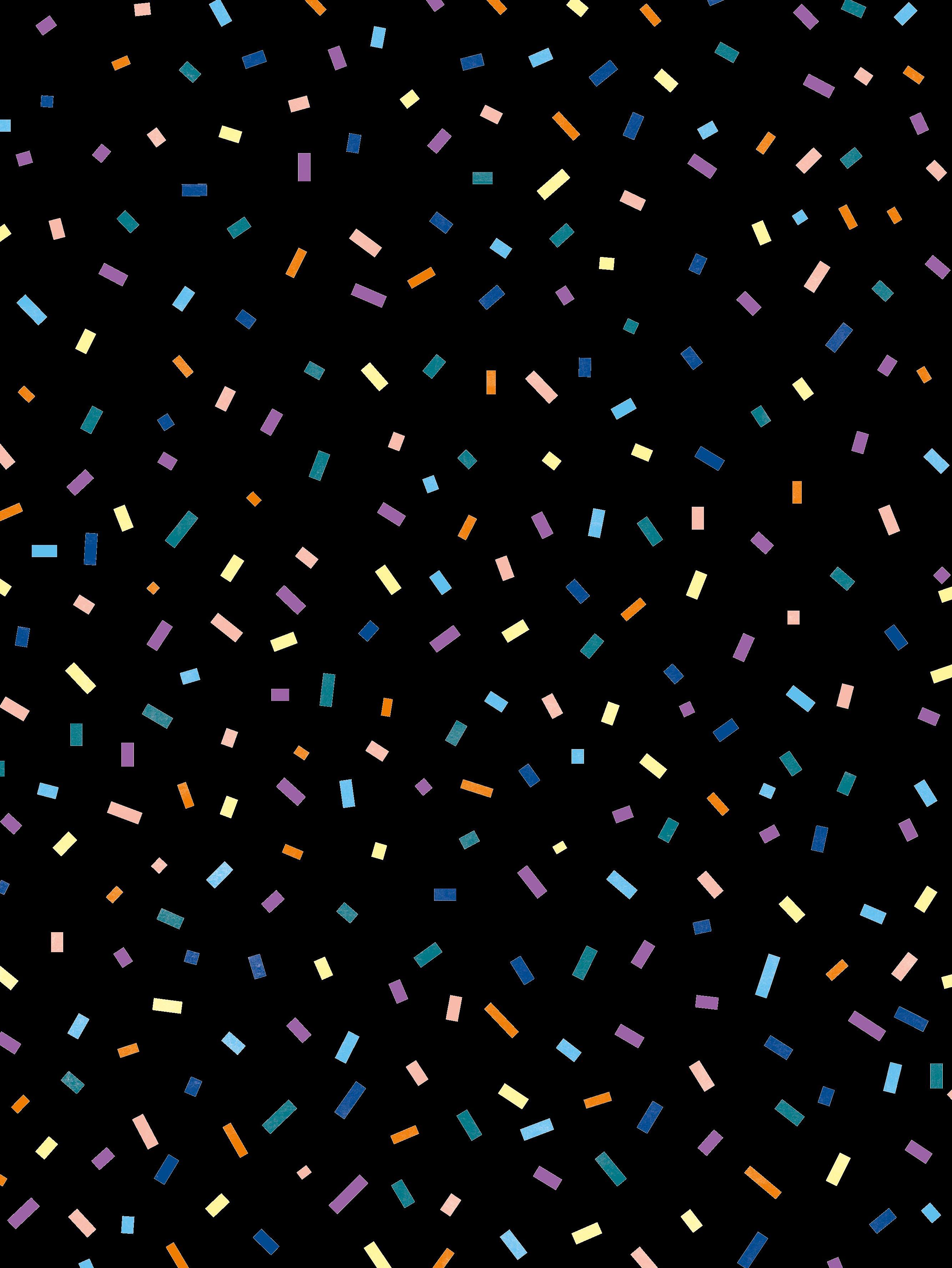


As atuais aspirações e capacidades inventivas podem encontrar vias de realização naquilo que as gerações anteriores deixaram como legado – sendo que este também resulta da reelaboração de heranças ainda mais remotas. Trata-se de dinâmica de transmissão e preservação dos mais diversos ramos do conhecimento por meio da reunião de soluções avulsas. Hoje, a despeito das convergências das obras colaborativas, como a Wikipédia e outras ferramentas da era da informação, o almanaque mostra-se um atrativo suporte de incentivo às pesquisas e experimentações criativas.
Acessível a diferentes idades, os almanaques, historicamente, têm conferido leveza a assuntos que, de outra maneira, pareceriam sérios demais. Ao sistematizar diversos saberes e fazeres com as possibilidades didáticas, o FestA! visa promover um ponto de equilíbrio entre o prazer e o fazer artísticos, convidando toda a família a se descobrir em alguma prática. Tal escolha reflete a premissa de possibilitar o diálogo entre dimensões complementares: tradição e inovação, memórias afetivas e novas experiências em prol de vivências significativas.
Combinando curiosidades, jogos, modos de fazer e estímulos à criação, esta reedição do Almanaque reforça o propósito de prolongar a atmosfera festiva do FestA! – Festival de Aprender, iniciado em 2017. O princípio orientador dessa ação anual do Sesc reside no reconhecimento e valorização do potencial criador de cada um nós, independente de quaisquer outros fatores e/ou motivações externas. É ele que, aliás, abre caminho para a expressão poética, valendo-se de repertórios artísticos e recursos tecnológicos fornecidos tanto pela contemporaneidade como pela tradição.
Lançado, originalmente, em 2020, no auge da pandemia de Covid-19, como uma experiência de aproximação e relacionamento com os diferentes públicos, o Almanaque FestA! volta a ser impresso com o objetivo de ampliar o acesso de mais pessoas aos seus conteúdos e propostas. Que os saberes e modos de fazer aqui reunidos funcionem como impulso de abertura para incorporar o desejo de (re)invenção e experimentação que acompanham a trajetória humana ao longo da história.
Bem-vindo e bem-vinda. Permita-se experienciar um pouco de tudo o que virá nas páginas a seguir!
Luiz Deoclecio Massaro Galina Diretor do Sesc São Paulo
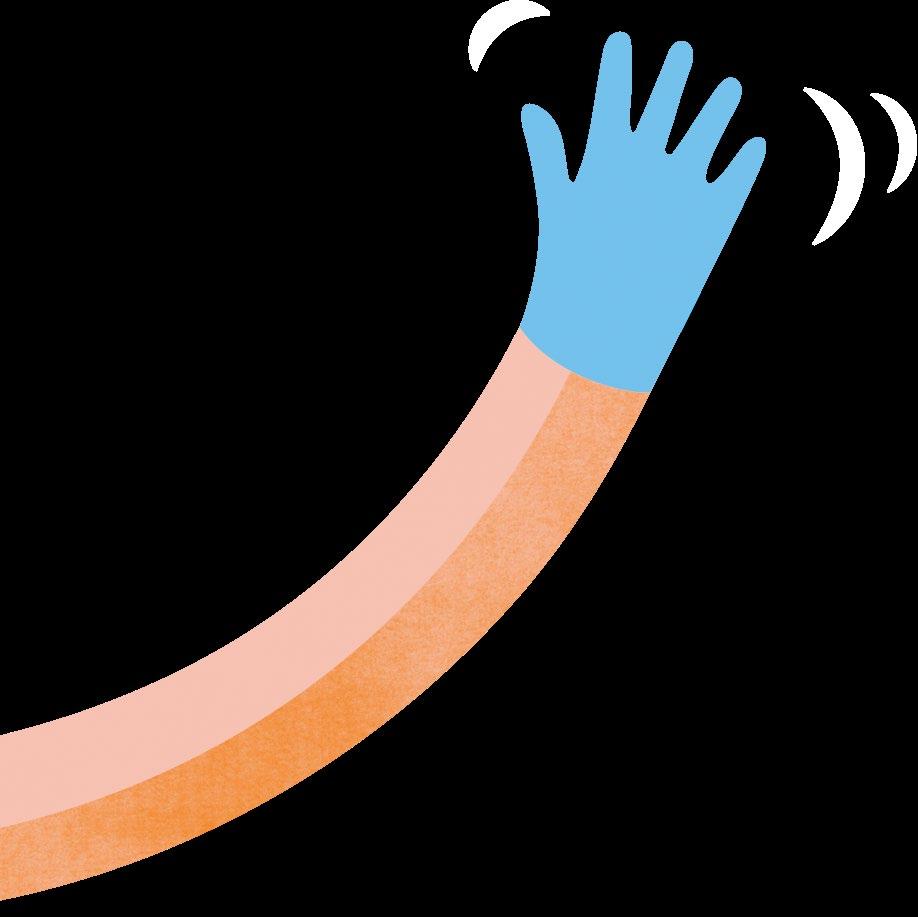
Boa festa tem gente, animação e presente. Tem também música, decoração, brincadeiras, entre vários outros elementos da cultura que fazem com que a gente tenha certeza de que está numa celebração.
O FestA!, nosso Festival de Aprender realizado no Sesc desde 2017, é um evento vibrante e participativo. Nele, o público é o protagonista, criando com imaginação e habilidades, usando materiais como papel, argila, tecido e ferramentas para se expressar poeticamente. O FestA! é marcado por mais de 400 atividades que celebram a arte, a criatividade, as manualidades, os encontros e o aprendizado coletivo.
Nesta edição, resolvemos extrapolar as unidades e levar até você, que está trabalhando em uma empresa parceira, toda essa experiência. Dessa forma pensamos no melhor jeito de levar o nosso FestA! até sua casa e sua família, e preparamos com muito carinho esse Almanaque, que agora chega em suas mãos.
Nas próximas páginas queremos compartilhar com você o prazer de aprender coisas novas e dar vazão à criatividade e à expressão. Nosso único combinado é: tem que ser divertido! E para isso, não economizamos nas cores, nas ilustrações e nas informações.
Se você está se perguntando quem foi que pensou em você, a ponto de fazer um presente assim, tão incrível, acredite: foi muita gente! Pessoas do Sesc São Paulo que passaram meses elaborando formas para fazer desse Almanaque um material rico e potente, interessante e divertido, para deixar você,


Aponte a câmera do seu celular para o QR Code acima e conheça os bastidores da criação deste Almanaque.Você também pode baixar a versão digital em sescsp.org.br/almanaquefesta seus familiares e amigos intrigados a se lançarem nos desafios que só a arte proporciona!
Reunimos arte-educadores do Sesc, especialistas convidados e artistas de diversas linguagens para criar cada detalhe deste Almanaque, pensado desde o início para ser vivido em família. Ele foi feito para ser lido e explorado coletivamente, com muitas mãos e olhares redescobrindo o mundo por meio da arte.
O Almanaque é dividido em sete seções, cada uma como um universo artístico, repleto de técnicas, curiosidades, histórias, fotografias, jogos e propostas criativas. Não é preciso ter conhecimento prévio para explorá-lo — basta curiosidade, vontade e olhos abertos para a arte que espera por você em cada página.
Em um mundo cada vez mais cheio de telas e dispositivos eletrônicos, propomos uma pausa prazerosa, um respiro na rotina, um momento especial que possa servir como inspiração para chamar alguém que a gente gosta para aprender e experimentar algo novo juntos.
Esperamos que esse manual, que é também um guia, que é um livro, que é um tabuleiro de jogos e que também é uma revista e um diário...enfim, esse Almanaque, traga, crie e deixe boas lembranças.
Esse Almanaque FestA! é para você e esperamos que você goste.
Equipe Almanaque FestA!
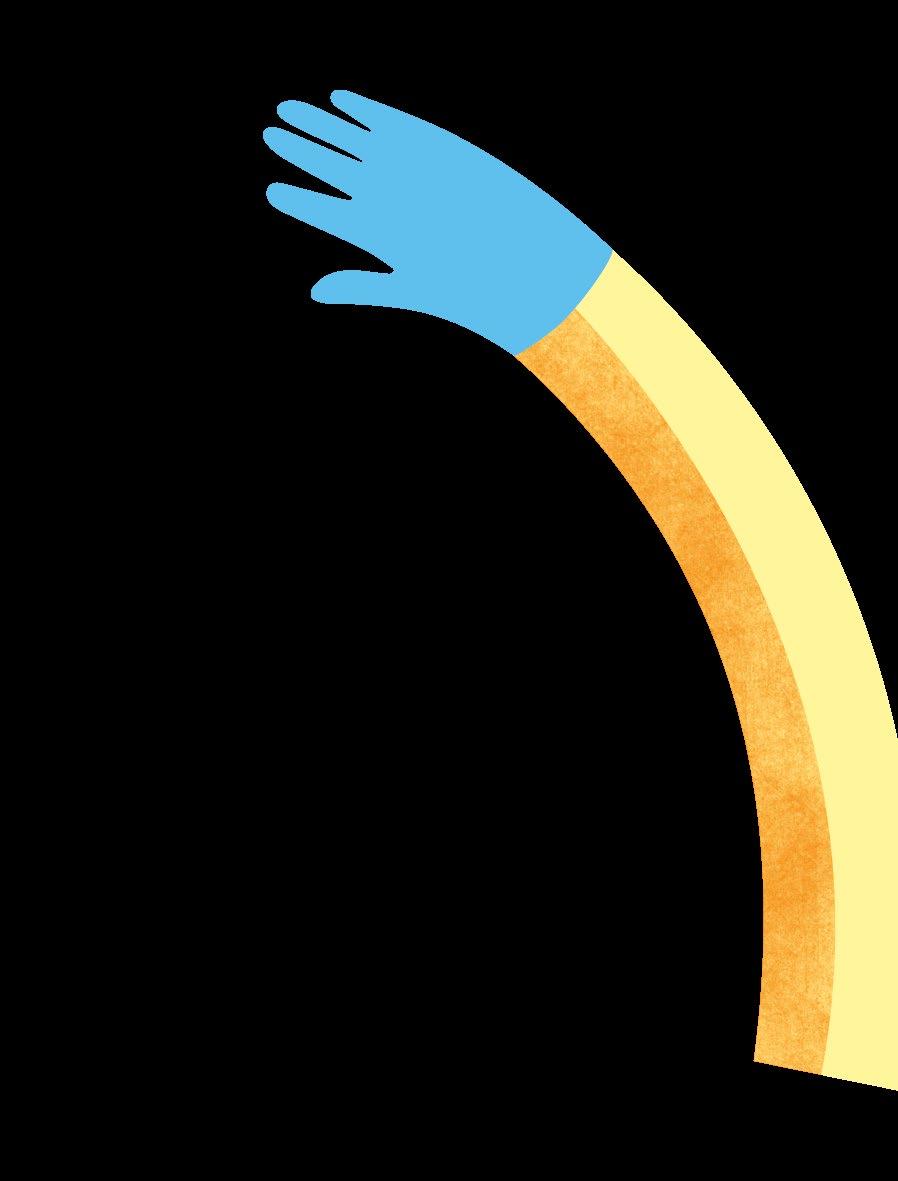
E se quiser, e puder, não deixe de compartilhar suas criações e fotos utilizando #AlmanaqueFestaSesc



VOCÊ SABIA? Para imprimir, offset 10
ARTE NO TEMPO Extra, extra! 12
FESTA EM CASA Gravura em isopor 13 MÁQUINAS MARAVILHOSAS Prensa para gravura 14
ENSAIO VISUAL Eduardo Ver 15
JOGOS Uma impressionante impressoteca e outros 16
VOCÊ SABIA? Não se perca neste emaranhado 22
ARTE NO TEMPO Eram as deusas tecelãs? 24
FESTA EM CASA Tear alternativo 25 MÁQUINAS MARAVILHOSAS Tear de pente liço 26
ENSAIO VISUAL Sônia Paul 27
JOGOS Trama de papel e outros 28

VOCÊ SABIA? Penso, logo rabisco 36
ARTE NO TEMPO Você está aqui 38
FESTA EM CASA É arte na fita! 39
ENSAIO VISUAL Montez Magno 40
JOGOS Desafio do desenho e outros 42


VOCÊ SABIA? As cores da identidade 48
ARTE NO TEMPO Aventura em cores 50
FESTA EM CASA Tintas que vêm da cozinha 51 MÁQUINAS MARAVILHOSAS Máquina de tatuagem 52
ENSAIO VISUAL Adriana Varejão 53
JOGOS Cor a cor e outros 54


VOCÊ SABIA? Do barro ao vaso 60
ARTE NO TEMPO Todas as formas 62
FESTA EM CASA Você é quem esculpe 63
MÁQUINAS MARAVILHOSAS Impressora 3D 64
ENSAIO VISUAL Eduardo Frota 65
JOGOS Acervo pessoal e outros 66
VOCÊ SABIA? A magia que fez o mundo rodar 72
ARTE NO TEMPO Escrita com luz 74
FESTA EM CASA Brinquedo óptico 75
MÁQUINAS MARAVILHOSAS Cinematógrafo 76
ENSAIO VISUAL Geraldo de Barros 77
JOGOS Flipbook e outros 78


VOCÊ SABIA? Criamos e inventamos 84
ARTE NO TEMPO O hip hop e a filosofia do remix 86
FESTA EM CASA Tudo se aproveita! 87
MÁQUINAS MARAVILHOSAS CNC Router 88
ENSAIO VISUAL Nelson Leirner 89
JOGOS Parla! e outros 90
Respostas 94
Quem fez o que no Almanaque? 95





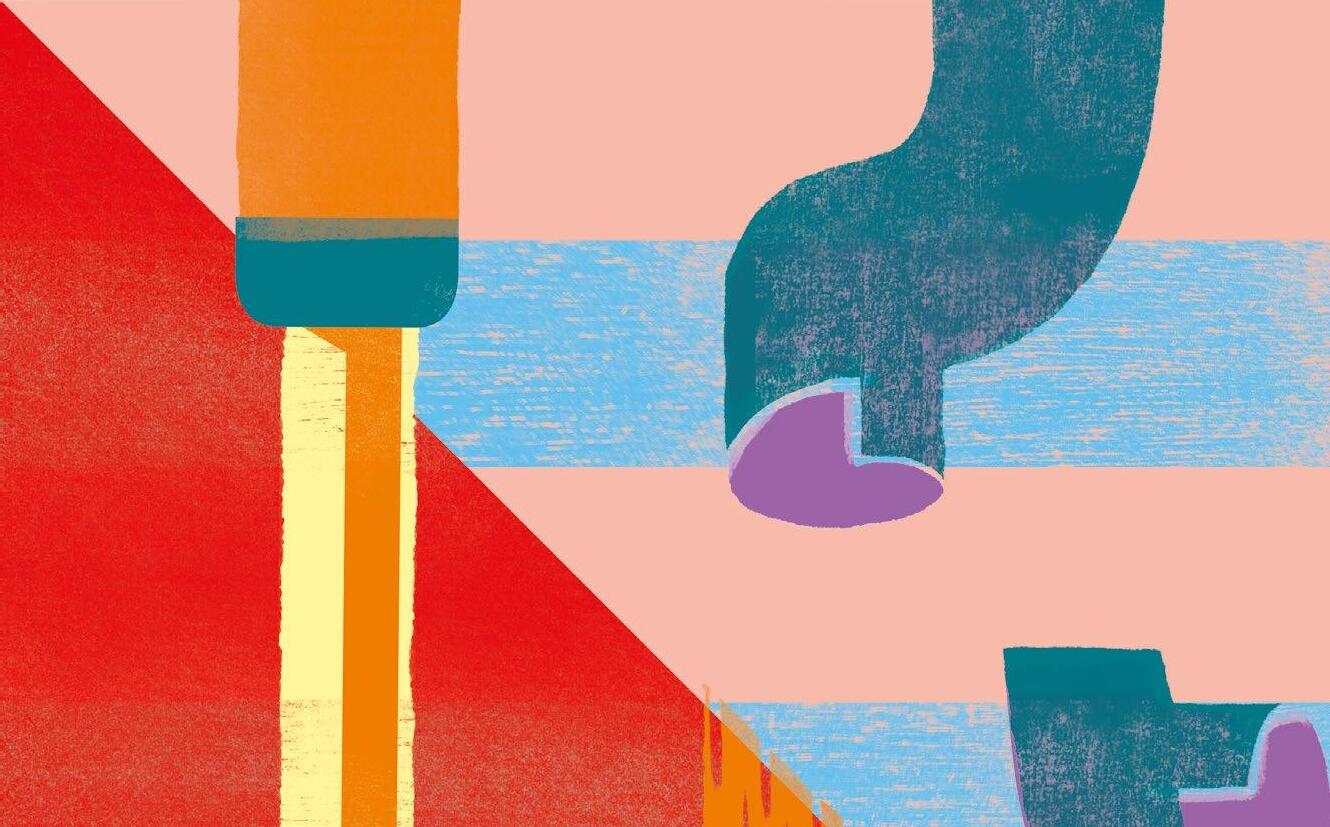
A
“Assim como o porto é bem-vindo para o marinheiro, a última linha também é para quem escreve.” Esse é um exemplo das anotações deixadas pelos chamados copistas nas margens de manuscritos da Idade Média. Às vezes, se resumiam a comentários reflexivos; em outras ocasiões, eram reclamações desaforadas.
Até 1450, quando o alemão Johannes Gutenberg inventou a prensa de tipos móveis, o único jeito de conseguir um livro era por meio de uma cópia feita à mão. Em grande parte, cabia aos monges (que integravam a limitada parcela alfabetizada da população) a difícil tarefa de produzir esses exemplares.
O monge copista ficava em silêncio, confinado em uma sala dedicada ao ofício da escrita – em latim, chamava-se “scriptorium”, o que deu origem à palavra “escritório”. Sentava-se em um assento duro, diante de uma mesa parecida com um púlpito de igreja. Sem eletricidade, aproveitava a luz do Sol durante o dia e recorria a velas quando avançava noite adentro. Fazia isso diariamente, ao longo de semanas, meses, até no frio do inverno europeu. Não é surpresa a tentação de deixar recadinhos nas páginas.
As péssimas condições de trabalho favoreciam o engano. Letras e palavras podiam ser trocadas e frases inteiras chegavam a ser perdidas, o que prejudicava a leitura ou até mudava o sentido do texto. Muitas vezes, essas
falhas acabavam sendo mantidas e disseminadas, já que reproduções com erros davam origem a outras cópias.
A fim de mecanizar o processo e permitir a reprodução em série, Gutenberg desenvolveu uma máquina de impressão que usava tipos móveis de metal (ou seja, letras em relevo que podiam mudar de lugar). Formava-se um molde com o texto de cada página, cobria-se de tinta e pressionava-se contra o papel. A invenção do alemão permitiu que todas as cópias saíssem iguaizinhas, reduzindo bastante a possibilidade de erros. Assim, os livros passaram a ser confiáveis.
Poucas décadas depois, eles se tornariam populares também, com cada vez mais pessoas alfabetizadas. Em 1500, calcula-se que já havia em torno de 13 milhões de exemplares em circulação na Europa. Os números só aumentaram, resultado de inovações como a prensa rotativa movida a vapor, criada no século 19, e o desenvolvimento do offset (pág. 10), no início do século 20.
O grande legado da impressão não foi o livro em si, mas a possibilidade de distribuir informação e cultura para mais gente, com mais agilidade, bem como acumular conhecimento. Afinal, toda grande descoberta, toda obra artística importante, todo pensamento transformador passaram a ser registrados, permanecendo sempre à disposição, como fonte de ensinamento e inspiração. E é claro que ninguém reclama de não ter de copiar tudo à mão. Os monges respiram aliviados.
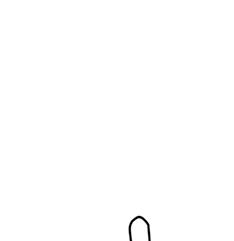
Já faz mais de um século que o offset se disseminou dos Estados Unidos para o mundo e ainda hoje é o método mais utilizado para reproduzir livros, revistas, jornais e muitos outros produtos gráficos – incluindo este Almanaque. O processo offset que conhecemos é igual ao inventado em 1903 pelo norte-americano
Ira Washington Rubel: a matriz gravada é disposta em um cilindro que recebe a tinta, a qual, por sua vez, é transferida para um cilindro de borracha e dele para o papel.
Dessa forma, textos e imagens que hoje são gerados pelo computador se transformam em uma publicação física, palpável. Vamos conhecer melhor o funcionamento desse sistema?
Acompanhe as etapas no infográfico.
ILUSÃO DE ÓPTICA
Na pré-impressão, textos e imagens de um PDF são convertidos em retículas, ou seja, pontos. Elas, então, são gravadas em diferentes matrizes: uma cor, uma chapa.
Na impressão com apenas tinta preta, temos a ilusão de enxergar o cinza pelo espaço não preenchido pelas retículas pretas (veja abaixo)

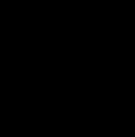
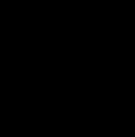


O mesmo acontece na impressão colorida, combinando retículas de ciano, magenta, amarelo e preto. O segredo: cada cor fica em um ângulo diferente. Assim, quando todas ficam sobrepostas, a imagem se forma aos nossos olhos.

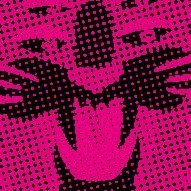
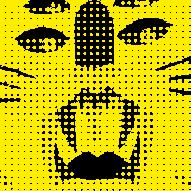


O arquivo digital em PDF é enviado para a gráfica, onde um software de pré-impressão faz a ripagem, ou seja, converte pixels em pontos chamados de retícula.
Para a impressão colorida, cada página é decomposta em quatro cores da escala CMYK: ciano, magenta, amarelo e preto. É possível também usar as chamadas cores especiais, que são tons específicos fora dessa escala CMYK. Cada cor exige a gravação de uma matriz de alumínio.

Após a impressão, começa a secagem, que pode combinar diferentes métodos. Mas os principais e mais comuns são a aplicação de jatos de ar quente e de um pó que cria microespaços entre as folhas. Após a secagem completa, vêm as outras etapas de acabamento, que podem incluir dobra, aplicação de verniz, colagem, costura e capa.
3
INÍCIO DO PROCESSO DE IMPRESSÃO
Cada chapa gravada (matriz) vai para uma unidade de impressão, também chamada de castelo: é este conjunto de cilindros aqui à direita. É preciso um castelo para cada cor.
4 5 6 7 8
A primeira cor a ganhar o papel costuma ser o preto. Depois, esse mesmo papel passa pelos demais castelos, sempre na mesma sequência: ciano, magenta e amarelo. Quando há uma cor especial – neste Almanaque, por exemplo, foi usada a cor 2592 do sistema Pantone –, ela inicia ou encerra a impressão, dependendo de fatores técnicos.
O cilindro com a matriz recebe a tinta pelo alto, fornecida pelo rolo entintador; por baixo, chega a água, proveniente do sistema de molha. A tinta oleosa não pega nas áreas molhadas, justamente aquelas que não devem ser impressas.
O cilindro com a matriz transfere a tinta para o cilindro de borracha (ou blanqueta) quando ambos são pressionados.
Entre a blanqueta e o cilindro de contrapressão passa o papel , que, ao ser comprimido, é impresso.
O papel é puxado pela impressora offset, que pode ser rotativa ou plana. No primeiro caso, ela é alimentada por grandes bobinas de papel e, no segundo, por folhas planas (o tamanho mais comum é 66 x 96 cm). Extremamente rápido, o sistema rotativo é mais indicado para grandes tiragens.
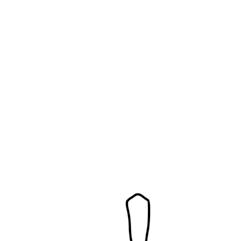
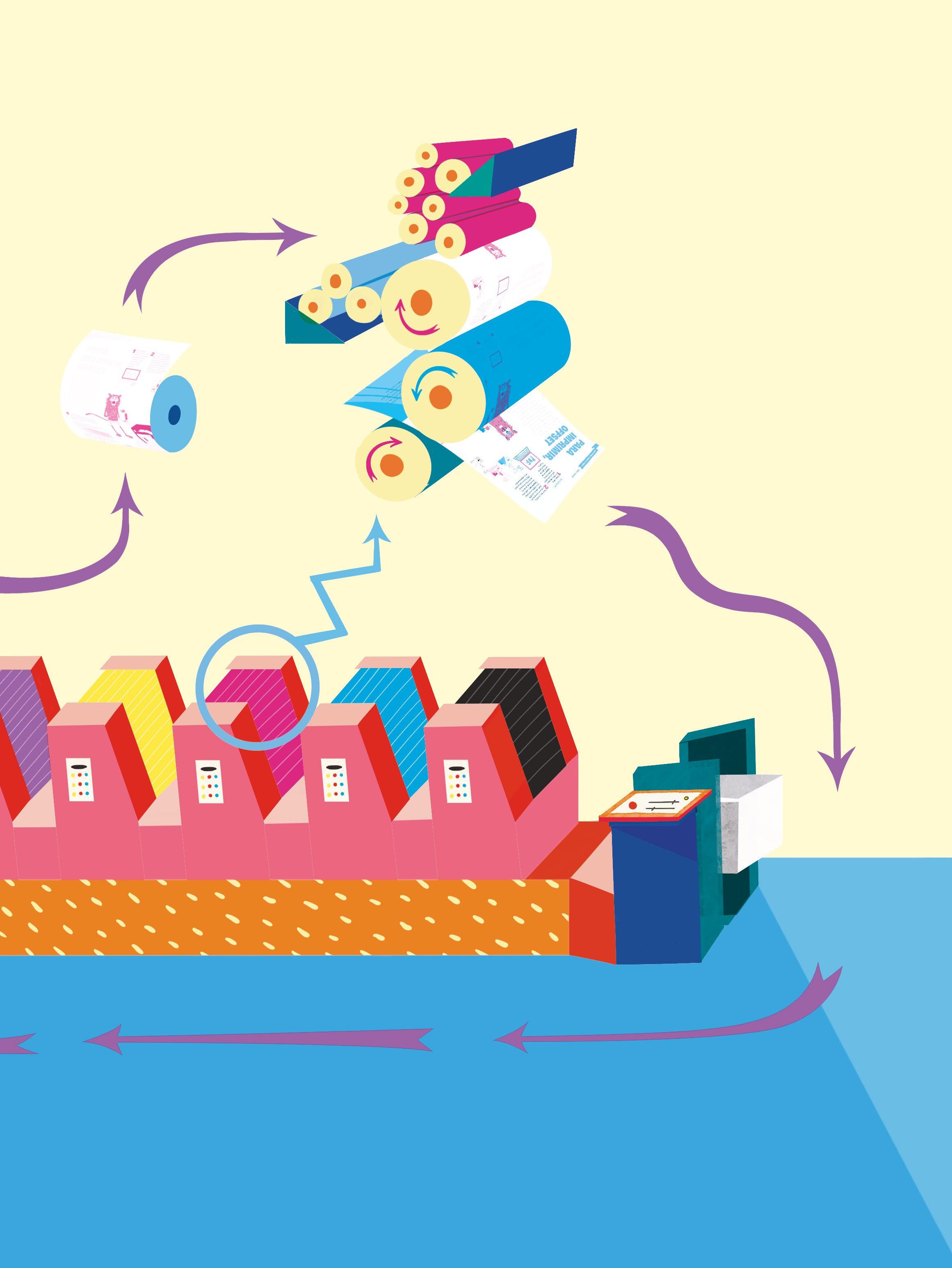
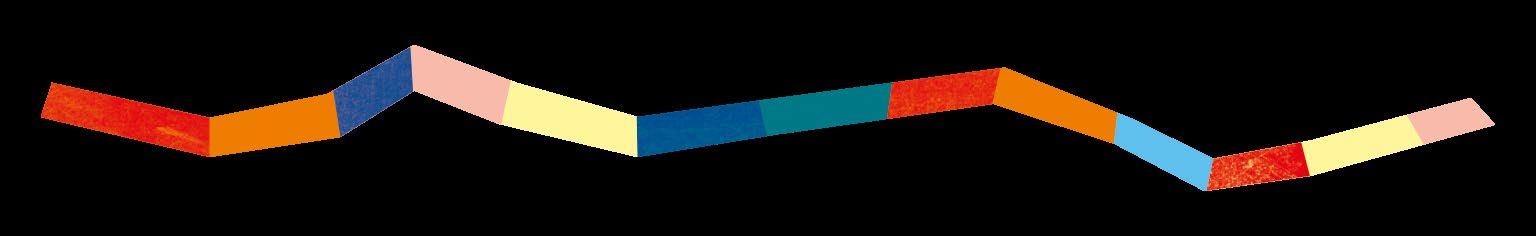
A invenção da imprensa deu voz a muita gente: com a possibilidade de imprimir textos, tomamos gosto por manifestar ideias e disseminar informações
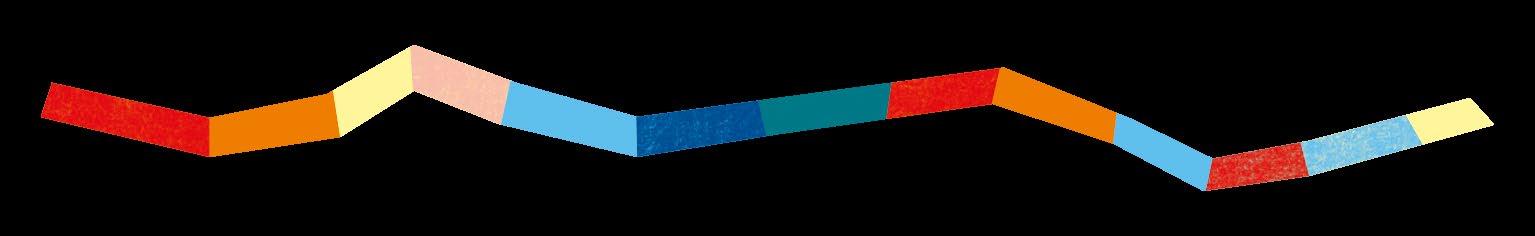
Era uma vez um mundo em que não havia quase nada para ler. Até existiam livros, mas eram um raro artigo de luxo, pois precisavam ser escritos à mão, exemplar por exemplar. Para se informar, o jornal não chegava pelo celular nem pela banca de revistas. Era preciso ir até o espaço público onde as novidades se expunham, pregadas em uma parede ou coladas em um poste.
Essa era a realidade há menos de 500 anos, quando a maior parte da população não sabia ler nem escrever e tinha acesso apenas ao que se transmitia boca a boca.
Uma mudança da água para o vinho iniciou-se na Europa medieval, por volta de 1450, quando o alemão Johannes Gutenberg adaptou uma prensa de espremer uvas para construir uma prensa de apertar letrinhas contra o papel, isto é, uma máquina capaz de produzir livros rapidamente com custos baixos (para a época).
A imprensa de Gutenberg se baseava em um sistema de tipos móveis: pequenos blocos de metal com letras e símbolos moldados em relevo, que podiam ser trocados de lugar para compor qualquer texto. Bastava usar um caixilho de ferro, chamado rama, com o formato da página e, dentro dele, montar as palavras, como num quebra-cabeça.
Depois, era só cobrir com tinta e gravar esses escritos no papel com a ajuda do mecanismo da prensa, processo que ficou conhecido como impressão.
Essa tecnologia não tardou a se espalhar por todo o continente europeu. Era o pontapé inicial de uma grande revolução na comunicação.
O primeiro livro impresso foi a Bíblia, mas nos anos seguintes a invenção se popularizou e obras de diversos temas apareceram. O número de adultos alfabetizados cresceu pela primeira vez e até a ciência foi beneficiada, já que cientistas passaram a trocar conhecimentos por meio de publicações especializadas.
Após sofrer poucas alterações em quase três séculos, a máquina ganhou uma versão totalmente reformulada no começo do século 19, de carona na Revolução Industrial. Foi quando surgiu a impressora a vapor com sistema rotativo, que fazia mais de mil impressões por minuto e, por tal agilidade, permitiu a criação de diversos jornais diários.
Desde então, inúmeros avanços tecnológicos simplificaram os métodos de impressão. Hoje em dia, qualquer pessoa pode ir até uma gráfica e encomendar a produção de um cartaz, um panfleto, um cartão de visita, um adesivo...
Outra opção é utilizar equipamentos mais simples, como uma impressora digital, uma máquina de xerox ou um mimeógrafo, para reproduzir cópias de um trabalho confeccionado em casa, no melhor estilo “faça você mesmo” – ou “maker”, para usar um termo mais atual.
Graças à democratização das técnicas de impressão, muitos autores e artistas passaram a lançar suas próprias publicações independentes, sem ficar condicionados a grandes editoras e livrarias. Se no passado o invento de Gutenberg deu voz a alguns para falar com muitos, agora há vozes muito mais plurais se espalhando por aí. O resultado são livros, revistas, zines e gibis que tratam dos mais variados assuntos e transbordam criatividade.

Você não precisa de uma prensa como aquela da pág. 14 para fazer gravuras em casa. A sugestão do educador Miguel Alonso é experimentar a isogravura, técnica feita em isopor.

VOCÊ VAI PRECISAR DE:
• Bandeja de isopor (aquelas usadas para embalar comida)
• Tesoura sem ponta
• Lápis ou caneta
• Palito de churrasco
• Tinta guache em uma ou mais cores
• Rolinho de espuma ou esponja
• Prato
• Folhas de papel
• Colher de pau

1 Lave a bandejinha e recorte as bordas. Você vai precisar apenas de um pedaço de isopor plano, semelhante a uma folha, para desenhar a matriz da gravura.
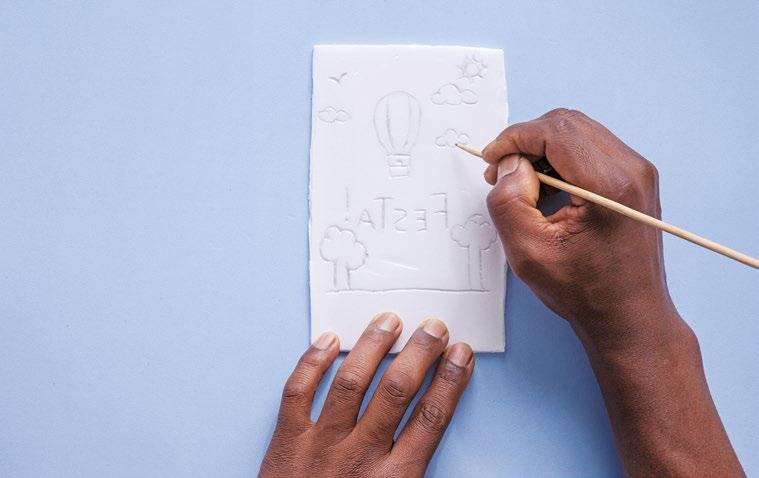
3 Finalize a matriz reforçando o traço com um palito de churrasco (ou lápis bem apontado ou caneta): é hora de fazer pressão para afundar a superfície do isopor, sem transpassá-lo.

5 Coloque uma folha de papel sobre a matriz e, com a barriga de uma colher de pau, pressione o papel contra o isopor. Note que é o contrário de usar um carimbo.
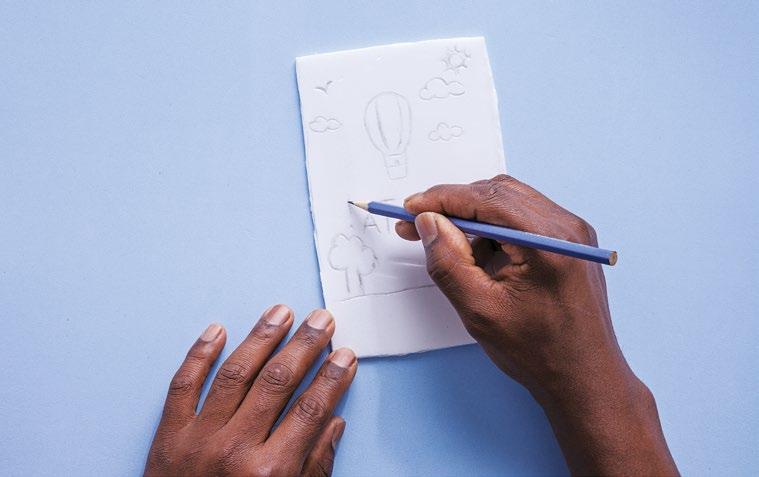
2 Sem calcar o isopor, trace o desenho ou palavra. Atenção: letras e palavras precisam estar espelhadas (como no avesso de uma folha escrita), pois a impressão sairá invertida.

4 Ponha um pouco de guache no prato, umedeça o rolinho (ou esponja) na tinta e aplique-a na matriz. Não exagere na quantidade de guache porque isso pode atrapalhar a impressão.

6 Retire a folha com cuidado para não borrar, espere secar e está pronto! Para reproduzir várias cópias da sua obra, passe mais guache na matriz quando a impressão ficar fraca.
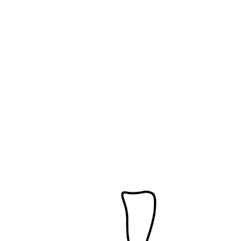

O sistema desta máquina de impressão é simples: papel e matriz são prensados ao passar entre dois cilindros giratórios, que funcionam como rolos compressores
1 Um rolo vai em cima e o outro, embaixo. Pressionados um contra o outro, imprimem movimento a uma chapa plana, que se locomove entre eles de um lado para o outro.
2 O sistema manual de acionamento por manivela convive atualmente com as prensas elétricas, que giram automaticamente ao toque de um botão.
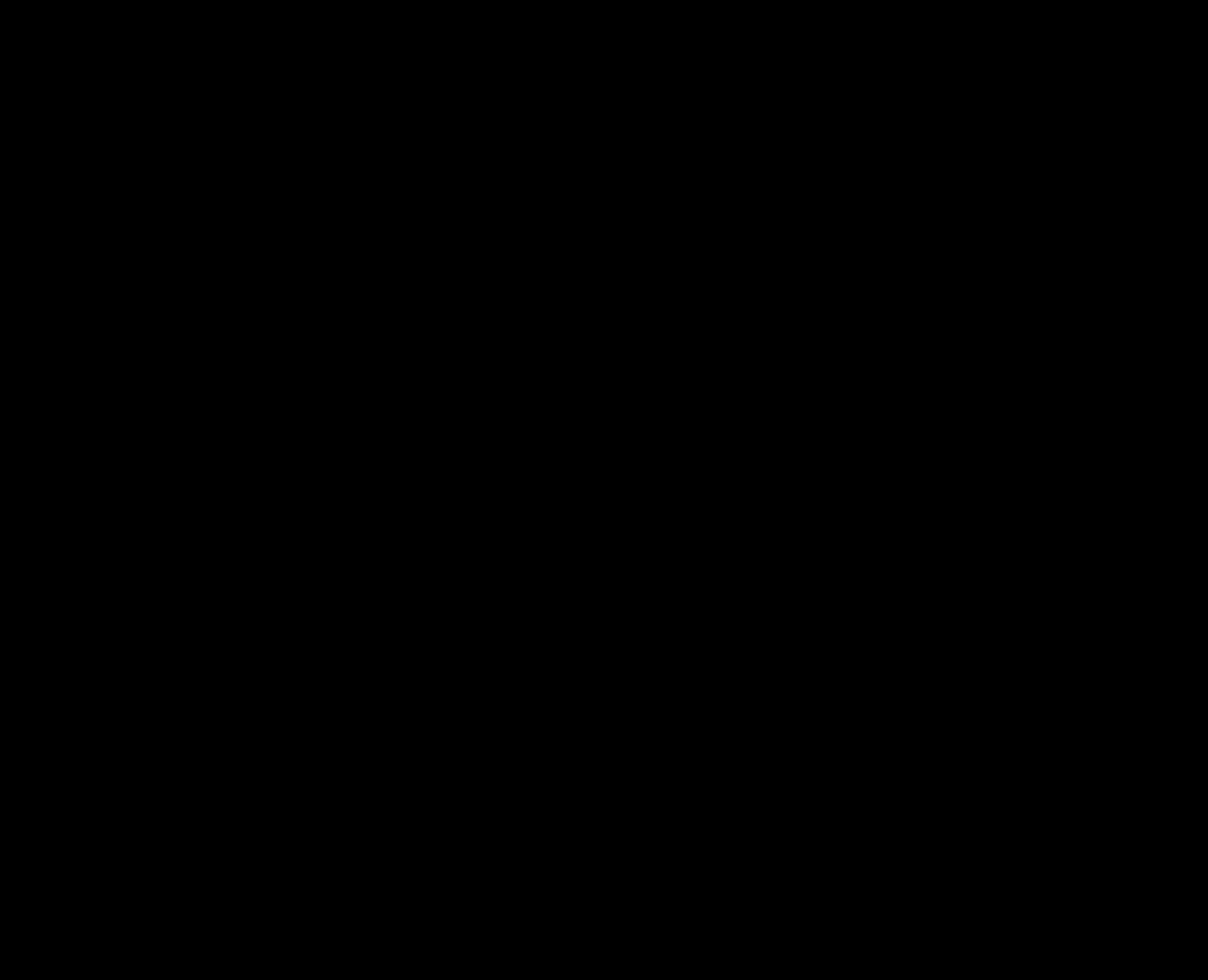
Os inventores dos primeiros equipamentos de impressão eram mesmo bons em cópias! Assim como Gutenberg adaptou uma máquina de espremer uvas para criar uma impressora de tipos móveis (relembre na pág. 12), outros artesãos da Idade Média copiaram o mecanismo de um moinho para grãos para desenvolver a prensa cilíndrica.
Atualmente, ela é uma faz-tudo, sendo usada em diferentes tipos de gravura, que é o método pelo qual se transfere uma imagem gravada em uma matriz para outro suporte, geralmente papel ou tecido. Mas esse aparato nasceu para fazer gravura em metal, a calcogravura, desenvolvida nos ateliês de ourivesaria do século 15 na Europa medieval.
Os ourives eram hábeis artesãos que produziam joias e diversos objetos com matérias-primas preciosas.

COMO FUNCIONA
A GRAVURA EM METAL?
O desenho é gravado em uma chapa metálica (em geral de cobre), com um instrumento de ponta afiada. A tinta é aplicada nos sulcos riscados e, depois, transferida para o papel pela pressão exercida por uma prensa cilíndrica.
3 Sobre uma placa de apoio rígida, chamada de cama ou berço, é depositada a matriz com o papel por cima. Um pedaço de feltro cobre e protege o conjunto.
4 Os parafusos no alto regulam a altura do cilindro superior, que sobe para que seja possível encaixar a placa de apoio entre os dois rolos.
Foi para divulgar e valorizar trabalho tão minucioso que eles passaram a preparar chapas metálicas em que gravavam desenhos realistas e ampliados das peças produzidas, como brasões e adornos. Depois imprimiam os contornos no papel, compondo um catálogo que facilitava a visualização dos detalhes e seduzia ainda mais os clientes.
É bem provável que os ourives tenham se inspirado em uma técnica praticada na China desde o século 2, a xilogravura, ou seja, a gravura em madeira. Essa, porém, depende apenas de prensagem manual, o que não funciona bem com as obras em metal. Para obter uma impressão de qualidade pelo método calcográfico, só mesmo com uma pressão muito mais forte entre o papel e a chapa. Daí a prensa!
MEU CORPO MEU TEMPLO TERRITÓRIO CONSAGRADO
Eduardo Ver
O artista Eduardo Ver (São Paulo/SP, 1979) leva até quatro meses entalhando suas matrizes de madeira utilizando apenas um instrumento metálico, a goiva. Depois de
prontas, elas recebem tinta e, usando uma colher de pau, Eduardo pressiona o papel contra elas para obter as reproduções, ou seja, as xilogravuras. Foi assim que fez em 2015 Meu Corpo Meu Templo Território Consagrado, peça de 1,06 x 1,78 m que traz símbolos sagrados da umbanda, religião afro-brasileira. A obra foi exposta na 13ª edição da Bienal Naïfs do Brasil, no Sesc Piracicaba.
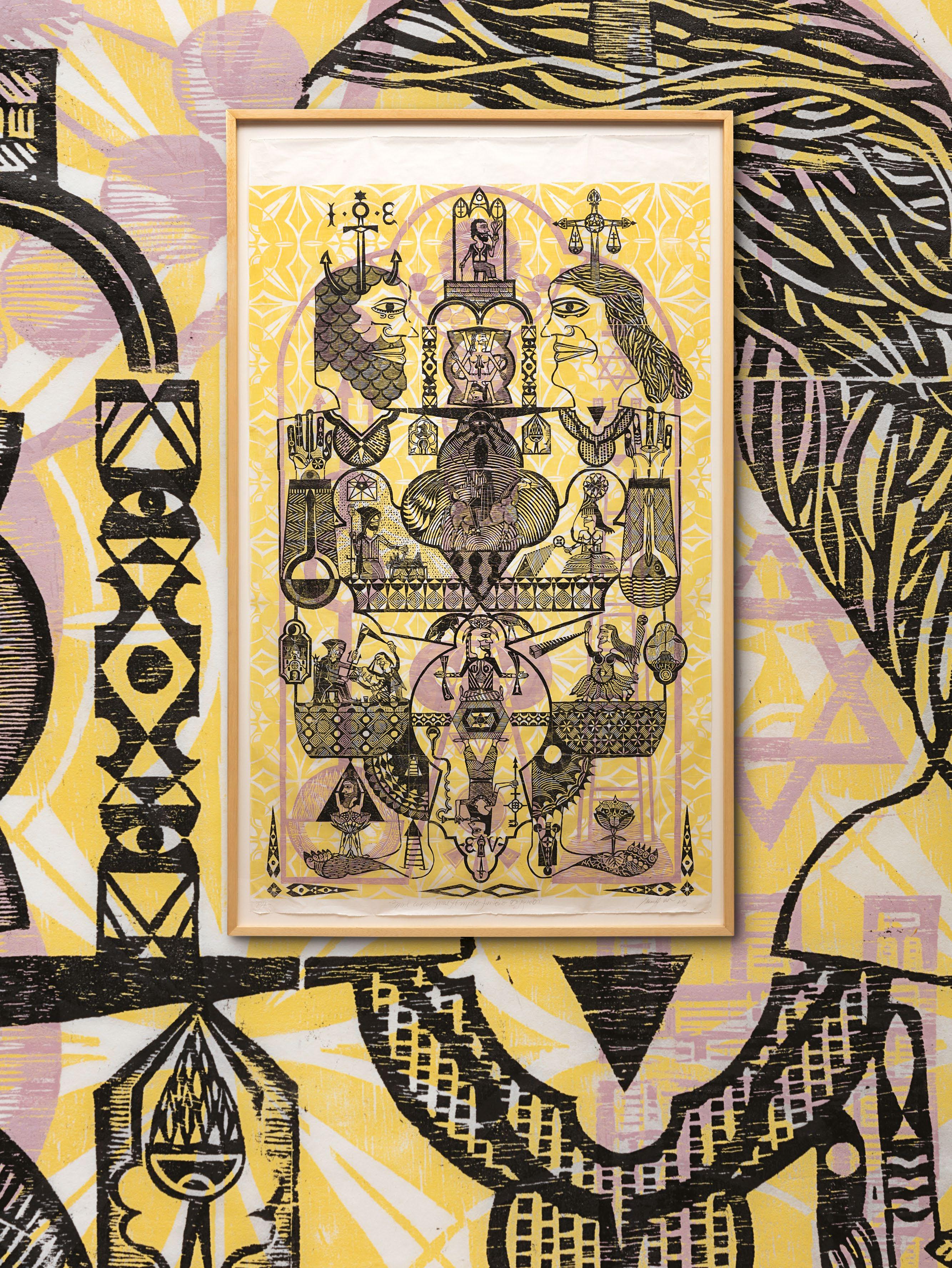

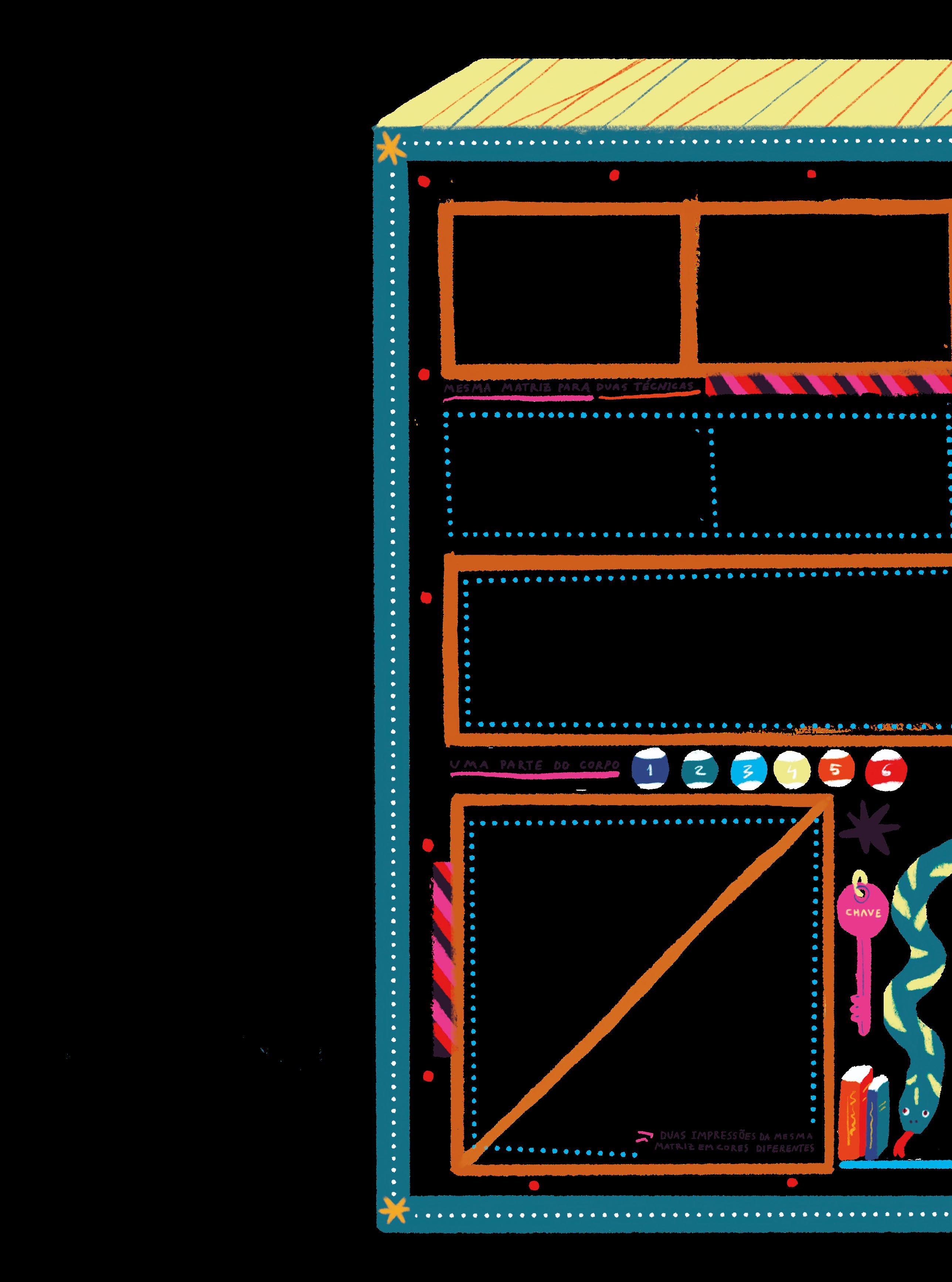
QUE TAL CRIAR UMA COLEÇÃO DE MATRIZES?
Sua missão é sair pela casa ou pelo jardim procurando pequenas matrizes, ou seja, tudo o que pode gerar cópias impressas: se quiser, comece pelas sugestões deixadas no desenho ao lado. É nele mesmo que você vai reproduzir suas matrizes, porém, para saber quais geram efeitos mais legais, vale testá-las em uma folha à parte. Você pode usar duas técnicas:
CARIMBAGEM
Com guache ou canetinha, pinte a matriz e depois pressione-a contra o papel.
FROTAGEM
Escolha uma matriz mais achatada, coloque-a debaixo do papel e friccione-o com lápis ou giz de cera para registrar a textura do objeto.
OLHO NA MATRIZ!
Que tal convidar mais gente para conhecer e identificar as matrizes da sua impressoteca?
Jogadores: 2 a 4 | Duração: 10 min Preparo: O nome de todas as matrizes da impressoteca deve ser escrito em pedaços de papel, que serão recortados, dobrados e colocados em um recipiente qualquer.
Como jogar: Um jogador retira um papel e lê o nome da matriz. Todos devem procurar a cópia na impressoteca: quem encontrar primeiro marca 1 ponto. Os outros papéis devem ser retirados até que um dos jogadores complete 8 pontos, vencendo a partida.
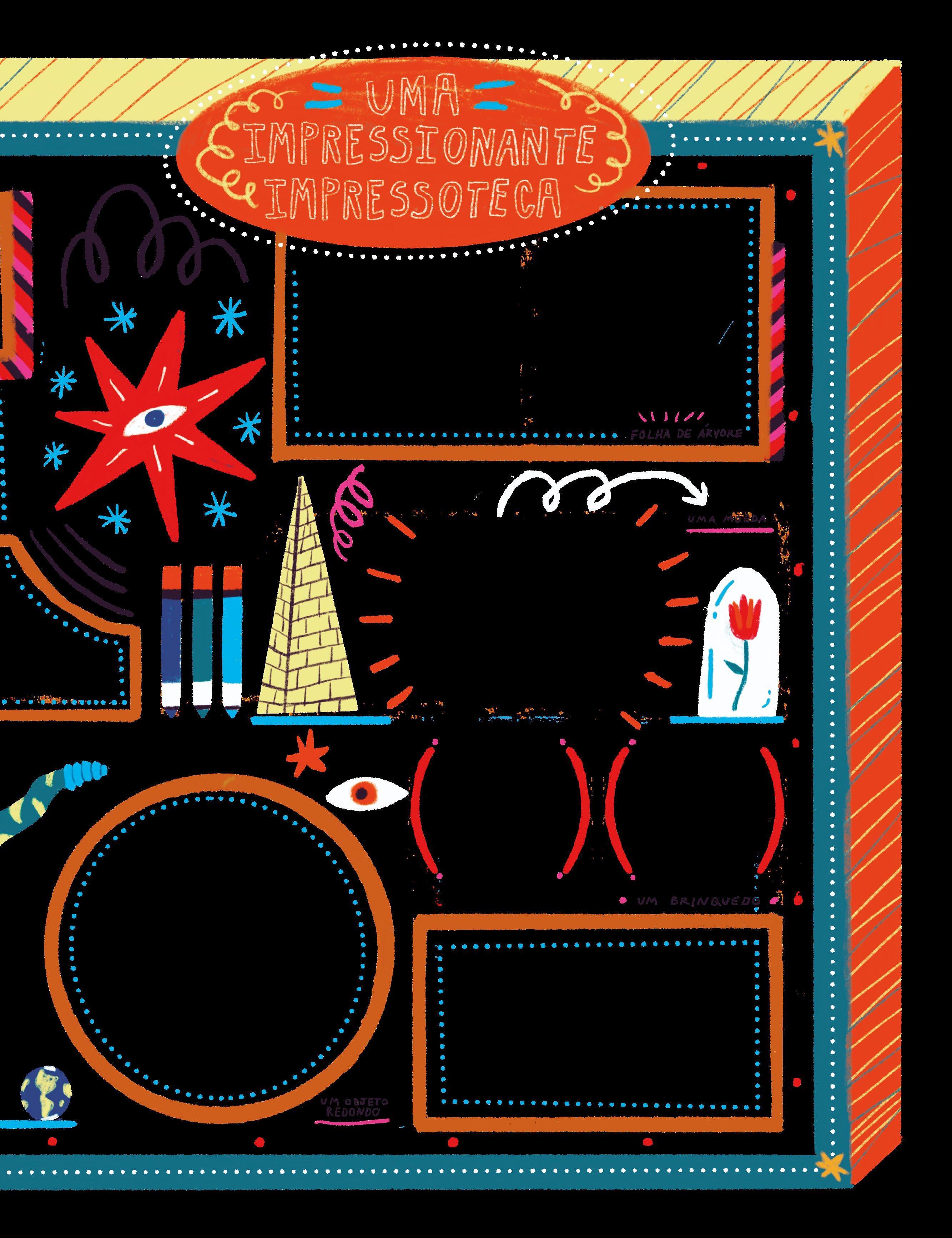
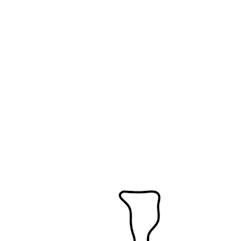
O Carimboverso é um universo de planetas formado por carimbos de objetos redondos.
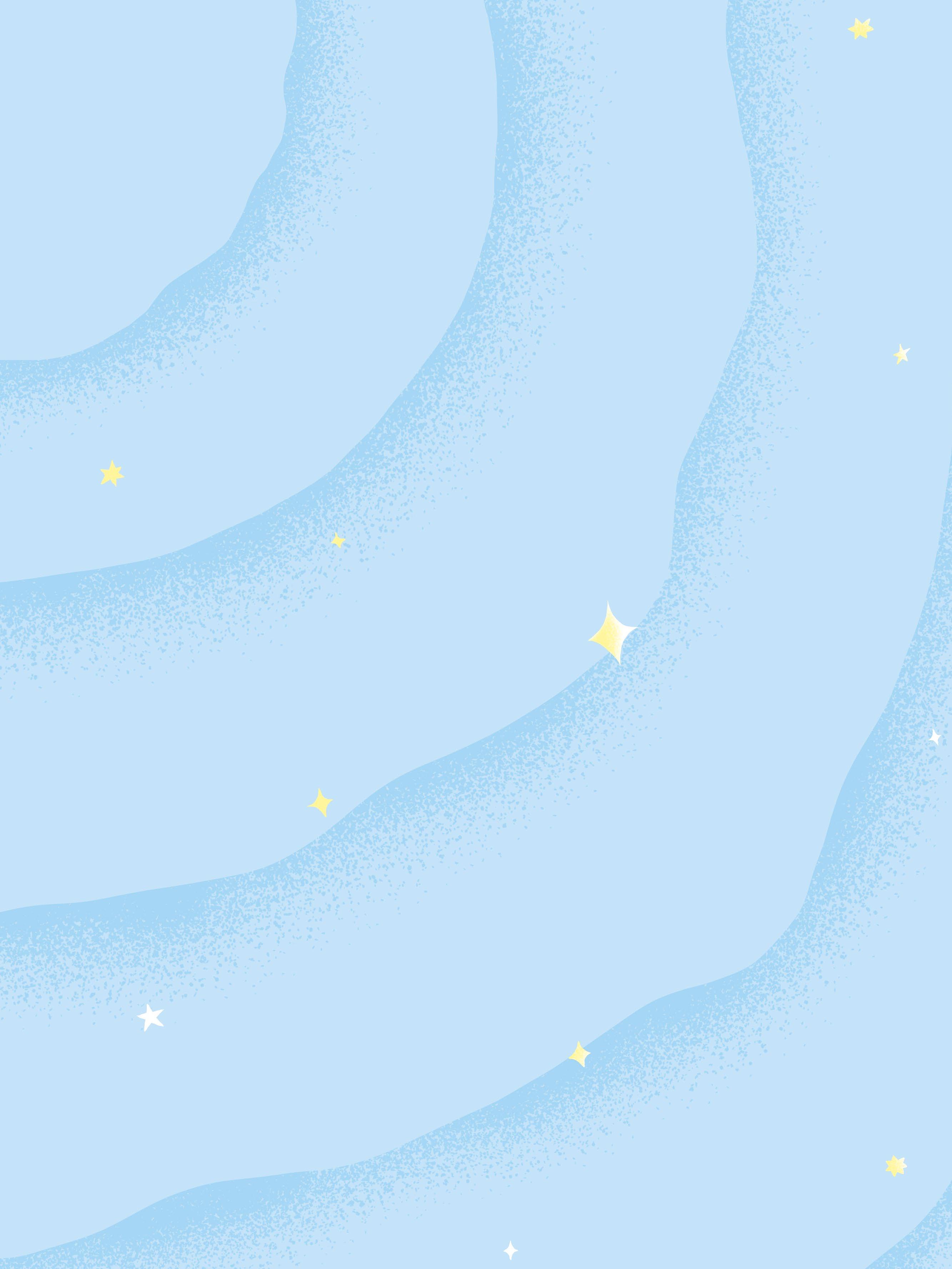
Lembre-se de que as matrizes podem ser rolhas, moedas, tampas e embalagens redondas descartadas (de suco, requeijão, bastão de cola, potinhos…). Coloque a imaginação para trabalhar e teste a impressão dos objetos antes de reproduzi-los aqui.
Ah, para a atividade ser mais desafiadora, seu universo deve ter:
• Planetas de tamanhos diferentes
• Um sol bem grandão
• Um planeta bicolor (de duas cores)
• Um planeta pequeno na frente de um grande
• Um planeta com oito luas
• Uma chuva de meteoros
• O que mais você imaginar!

Já pensou que a sola do chinelo pode ser um carimbo? E que seu corpo e qualquer objeto podem ser matrizes?
Já pensou que a impressão da ponta dos dedos também é um carimbo que identifica cada um de nós? Que o dedo é uma matriz com linhas diferentes, única para cada pessoa?
Já pensou que as notas de dinheiro também são impressas por uma matriz? Onde será que ela fica? O que uma nota de dinheiro tem de diferente em relação a outros papéis impressos?

A imagem ao lado mostra como seria a matriz de madeira de um caça-palavras se fosse impresso em xilogravura. Será que mesmo estando tudo invertido você consegue encontrar 15 palavras escondidas aí?
Dica: Todas as palavras são objetos feitos com impressão (ou usam a técnica de impressão em suas estruturas ou embalagens).
Exemplo:
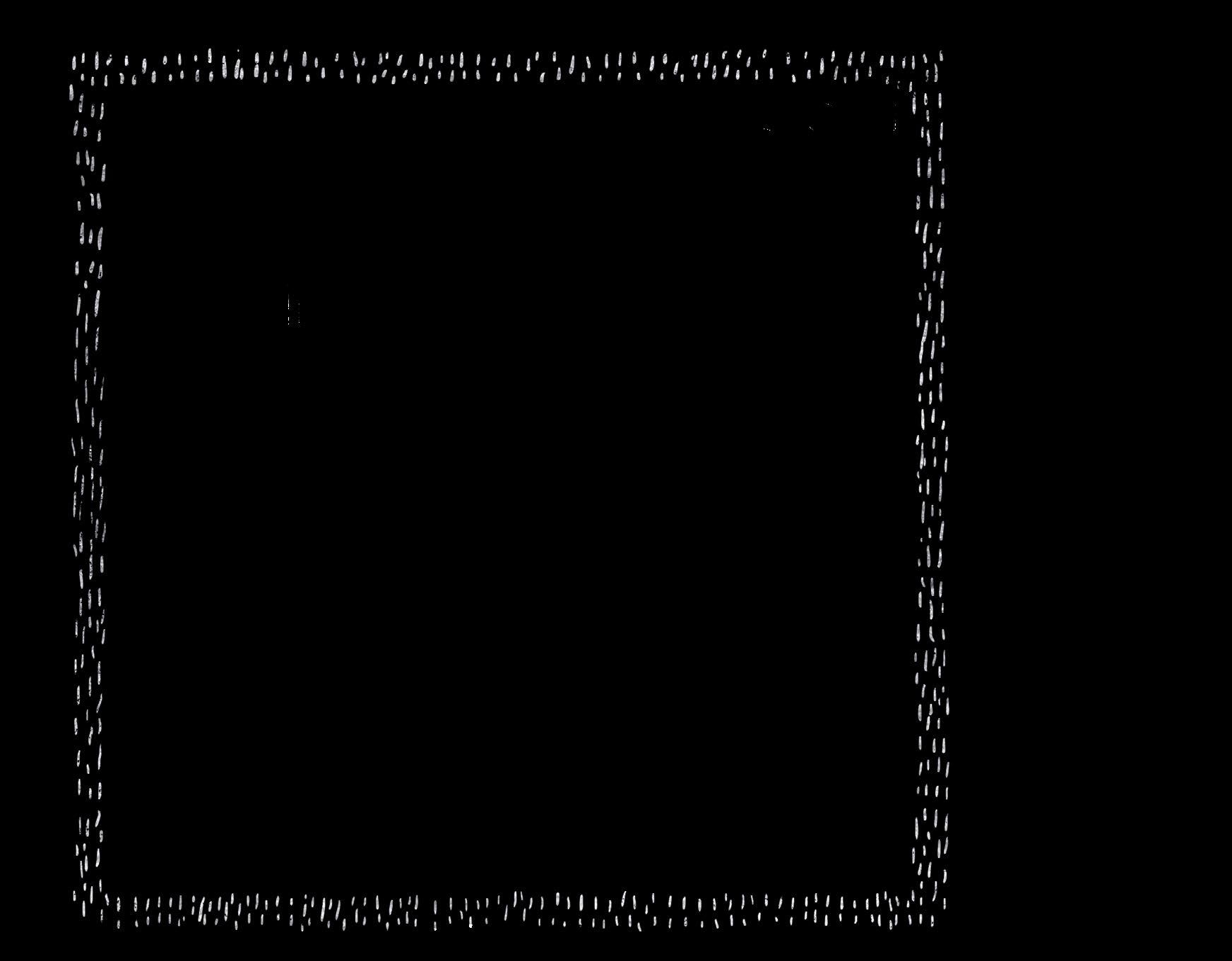
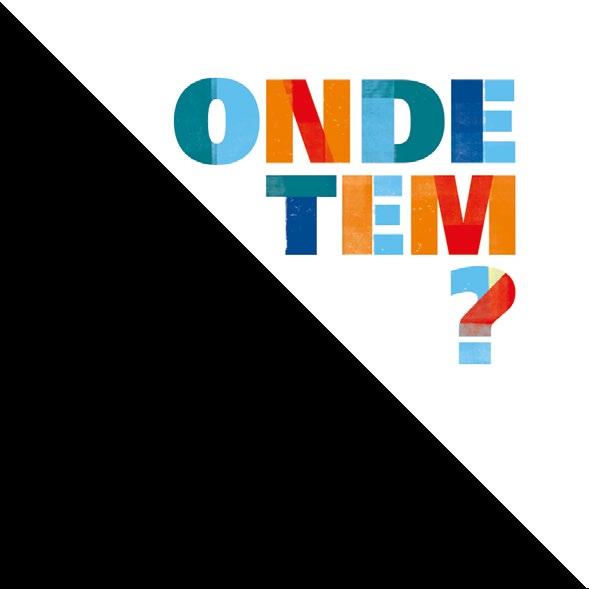
impressão, frotagem, matriz, carimbo, gravura, cópia, jornal, goiva, livro, gráfica, relevo, cordel, invertido, imprensa, comunicação. Confira a resposta na pág. 94.

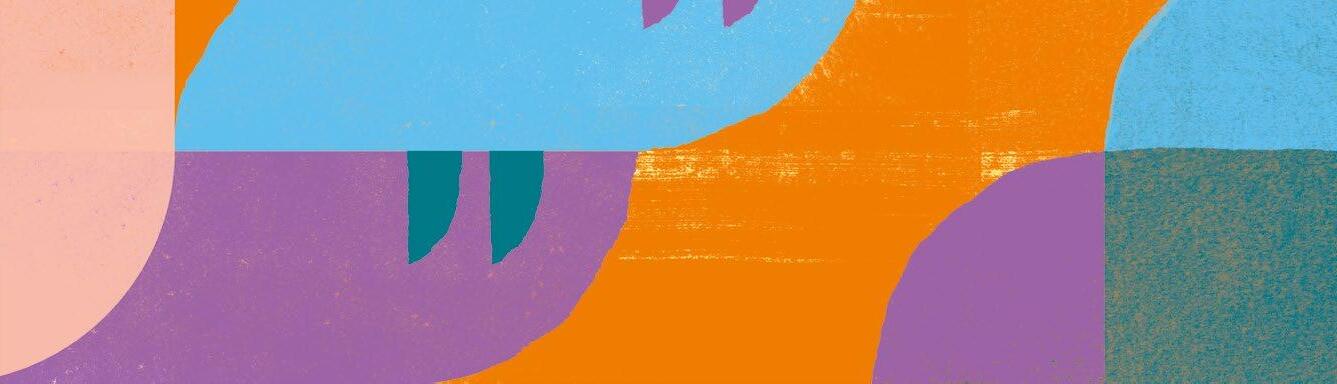







Estruturas delicadas e robustas nascem de elementos que se entrelaçam: de teias de aranha, tecidos e cestarias a sociedades e rede de computadores. Tudo é trama!
Éfascinante imaginar como as palavras podem ter surgido. Na aurora da língua portuguesa, alguém deve ter tentado descrever a construção de uma história e, para isso, usou um termo originário do latim, “trama”, que se refere a um dos conjuntos de fios que formam um tecido.
Dá para entender a associação de ideias. Assim como os fios na tecelagem, os acontecimentos e as ações dos personagens se entrelaçam para compor a narrativa. Nesse sentido, um de seus sinônimos, “enredo”, seguiu caminho semelhante, já que vem de “rede”.
Não é preciso saber costurar ou tricotar para “tecer” comentários, “alinhavar” pensamentos, “alfinetar” desafetos, se sentir “embaraçado” ou com um “nó” na garganta. São tantos os termos do universo têxtil presentes em expressões do dia a dia que é fácil perder o “fio da meada”.
As tramas compõem os diferentes aspectos da vida humana há milênios, desde que descobrimos como tecer – e olha que isso faz tempo! Arqueólogos encontraram fibras de linho usadas para esse fim há mais de 30 mil anos.
Desde então, desenvolvemos diversas técnicas, usando um fio, dois ou mais, com ou sem a ajuda de ferramentas (veja mais nas págs. 22 e 23 ). Exploramos materiais de origem animal (pelos de ovelha e alpaca ou o filamento produzido pelo bicho-da-seda, entre outros), vegetal (algodão, juta, sisal e outras plantas) e, mais tarde, fibras artificiais (a exemplo de poliéster
e náilon). E criamos equipamentos manuais, como o tear (pág. 26 ), e suas versões mecanizadas.
Aproveitando diferentes formas de tramar, confeccionamos roupas, mantas, redes de pesca e de dormir, cestos para transportar e guardar. Sem falar em itens decorativos, como a trabalhada tapeçaria europeia da Idade Média, cujas imagens (veja só!) contavam uma história.
A importância da tecelagem e dos demais métodos não se resume à funcionalidade dos produtos. Eles também contribuíram para impulsionar outras atividades, como o comércio. Da Antiguidade até o século 15, a Rota da Seda ligou o Mar Mediterrâneo à China e foi percorrida por peregrinos que traziam elaborados tecidos e outras mercadorias do país oriental ao Ocidente.
Não menos valioso é o que essas técnicas representam em termos culturais. Um exemplo bem familiar está no trabalho das mulheres rendeiras em diversas cidades do Nordeste brasileiro. Seu ofício é tanto uma forma de sustento quanto um saber transmitido de geração a geração, que ajuda a definir a própria identidade do povo local.
Mesmo que a gente não se dê conta, as tramas se estendem por toda parte. Elas estão na maneira como vivemos em sociedade, com inúmeras relações (em casa, na escola, no trabalho, na rua) que se entrelaçam. Estão também na internet, rede mundial de computadores conectados por fios visíveis e invisíveis.
E tem trama até aqui neste texto – palavra que vem do latim “textus” e significa “que foi tecido”.
Pode acreditar: uma toalhinha de renda é parente mais próximo de um cesto de palha do que de um casaco de tricô. Para entender, esqueça o material e pense apenas no método de produção. As peças de tricô (e também as de crochê) são feitas com um fio que dá voltas em si mesmo para formar os pontos. Já na cestaria, nas rendas, na tecelagem e no macramê, a trama é consequência do cruzamento de vários fios ou fibras.
TÉCNICAS DE FIO CONTÍNUO
TÉCNICAS DE CONJUNTOS DE FIOS
Vinda do francês, a palavra “crochet” significa “pequeno gancho”. E é esse ganchinho na ponta da agulha de crochê que puxa o fio e o entrelaça, compondo um arranjo que lembra uma malha rendada. Para chegar ao desenho pretendido, é preciso um gráfico indicando os diferentes tipos de ponto e a posição que cada um deles deve ocupar na trama. Trabalha-se o tempo todo com um fio: se for acrescentar outra cor, é preciso emendar uma nova linha.
Principais pontos: correntinha (abaixo), ponto alto, ponto baixo e ponto baixíssimo. Os chamados pontos fantasia juntam esses primeiros para formar desenhos específicos, como estrela, trança, leque e abacaxi.
TRICÔ
Em vez de uma, esse primo do crochê usa duas agulhas, daquelas longas e com a ponta afilada. À medida que se tricota, os pontos são transferidos de uma agulha para a outra, formando camadas que resultam em uma estrutura geralmente mais fechada. Isso não significa, porém, que ela seja rígida. Aliás, a elasticidade caracteriza as tramas de tricô e crochê, que por isso são chamadas de malha – em oposição a tecido plano, nome técnico dado às composições tecidas em tear (ao lado).
Principais pontos: meia e tricô (veja ambos abaixo) O ponto meia é aquele que quase sempre aparece no lado direito da peça, enquanto o ponto tricô fica visível no avesso. Mas há também losango, arroz, trança, algodão...
PONTO MEIA
TECELAGEM
Junte um modelo de tear (existem vários, entre manuais e elétricos), dois conjuntos perpendiculares de fios, um gráfico com o padrão desejado e você poderá confeccionar um tecido. Chamado de tecido plano, ele é menos elástico que a malha, pois tem fios verticais (urdidura ou urdume) e horizontais (trama). Essas linhas podem se cruzar de muitos modos, gerando estruturas – ou padrões – que, em alguns casos, chegam a ser decorativas, sem que haja a necessidade de combinar fios de outras cores.
Principais estruturas: o padrão tafetá (abaixo) – que intercala um fio da urdidura com um fio da trama – dá origem aos demais padrões, como sarja e cetim, que figuram entre os mais antigos.
CÓDIGO BINÁRIO DE JACQUARD
Quanto mais complexos eram os tecidos no século 18, mais esforço exigiam de quem operava o tear – principalmente dos ajudantes infantis, responsáveis por erguer os fios da urdidura para formar o desenho planejado. Até que, em 1801, um desses ex-ajudantes, o francês Joseph-Marie Jacquard, inventou um sistema de cartões perfurados que permitia ao tear reproduzir a padronagem automaticamente – cada cartão correspondia a uma linha do desenho. A revolução foi tamanha que o tear de Jacquard virou propriedade pública e é considerado um antepassado do primeiro computador.
Nem só de linhas, barbantes e lãs vivem as tramas. E muito menos só de algodão, seda, linho e pelos de ovelha. Graças a desenvolvimentos tecnológicos, a variedade de matérias-primas vegetais, animais, sintéticas e artificiais cresce, enquanto a criatividade leva à inovação no modo de utilizá-las. Daí surgem crochê e tricô de fio de malha, macramê de palha de buriti e peças de tear feitas de fibra de bananeira. Experimentar é a palavra da vez!
MACRAMÊ
Se você nunca ouviu falar dessa técnica (que alguns consideram como um tipo de renda), saiba que ela serve até para confeccionar redes de pesca! O negócio é ir dando diferentes tipos de nó para criar tramas bem gráficas. Exclusivamente manual, o método de amarração surgiu no mundo árabe no século 13. Desembarcou em outros países de navio, pois era usado por marinheiros para fazer xales e utensílios. Em tempos recentes, nos anos 1970, ficou tão associado ao movimento hippie que, quando esse acabou, o macramê sumiu. Agora, porém, retorna em valorizados painéis de parede, suportes de plantas, cintos e bijuterias.
Principais nós: laçada (é o nó inicial), duplo ou quadrado (abaixo), festonê e espiral. Para fazer o nó duplo, o artesão usa dois fios e dá uma laçada em cada um para prendê-los no suporte, ficando com quatro fios, um ao lado do outro. Os externos – um por vez – enlaçam os internos, formando os nós.
Todo tecido que forma desenhos com base no entrelaçamento de fios pode ser considerado uma renda. Explicando de forma tão fria, nem parece que estamos falando de tramas delicadas que exigem meses de trabalho, conforme o tamanho. Ponto por ponto, laçada por laçada, rendeiras que aprenderam o ofício com a mãe tecem rendas labirinto, frivolité, de abrolhos, de bilro, filé, renascença, irlandesa... Isso só para falar nas variedades mais comuns no Brasil.
Sim, essa prática artesanal entra na categoria de tramas têxteis. Afinal, não é domando e trançando fibras vegetais flexíveis – como taboa, sisal, bambu e palha – que os artesãos confeccionam cestos, balaios e peneiras? E confeccionam, também, baús, tapetes, esteiras e mais um monte de objetos que em outros tempos foram estritamente utilitários e hoje são itens de decoração que celebram nossas raízes. Muitos povos têm a sua cestaria típica.
Ainda que tenha vindo de fora, com os portugueses e açorianos, essa renda se tornou símbolo do Ceará e de Florianópolis, capital catarinense. Em almofadas grandes e arredondadas, mulheres alfinetam um papel com o molde (que leva o nome de pique) e sobre ele vão deslocando os vários fios necessários para cumprir o desenho. Cada fio fica enrolado em uma peça de madeira, o bilro.
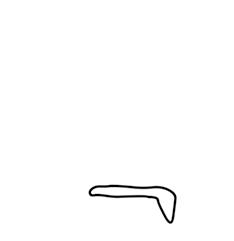
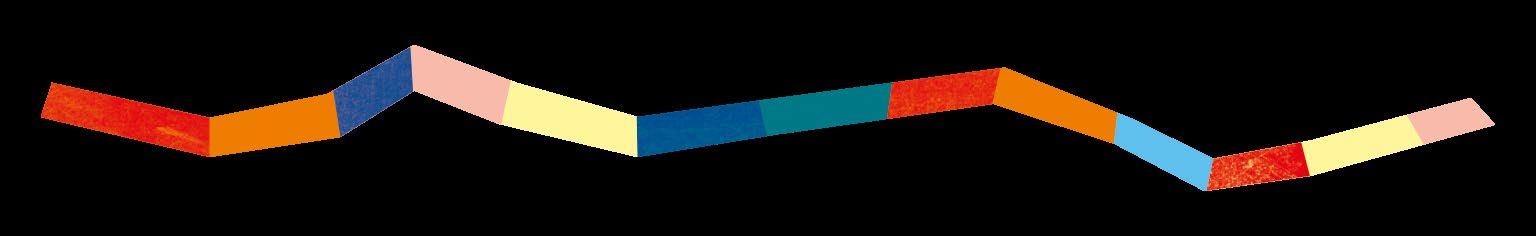
A começar no cordão umbilical, parece haver um vínculo mágico entre os fios e o feminino – a atividade da tecelagem é a perfeita materialização dessa ligação
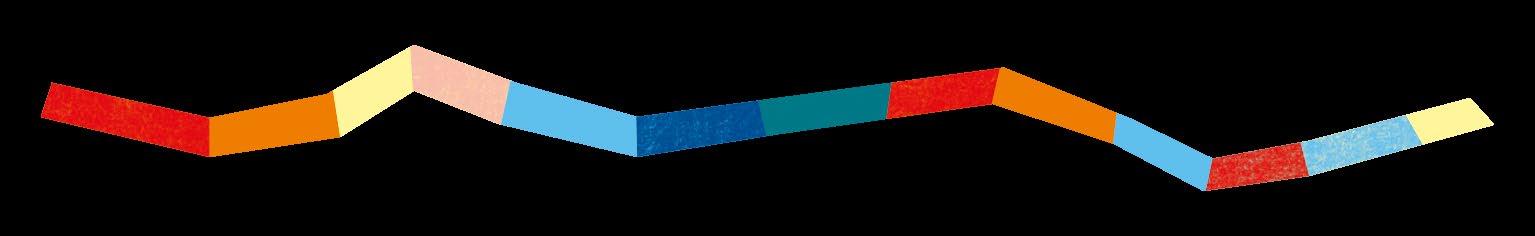
No princípio, era o fio. Em diversas tradições antigas, a criação do Universo é relacionada a uma Grande Mãe que fia e entrelaça caprichosamente cada uma das linhas que formam a estrutura do Universo.
Na mitologia grega, essa função é dividida entre as Moiras: Cloto, Láquesis e Átropos, as três deusas irmãs a quem cabe, respectivamente, fabricar, tecer e cortar o fio da vida de todas as pessoas. Em outro mito grego, Penélope, que é uma mortal, se vê forçada a um novo casamento enquanto espera que seu marido desaparecido, Ulisses, volte da guerra. Na tentativa de adiar ao máximo o matrimônio, ela promete ao pai aceitar um pretendente tão logo conclua uma peça em seu tear. Assim, durante o dia Penélope tecia na frente de todos e, à noite, secretamente, desfiava boa parte do que havia feito.
Para além do imaginário poético, é fato que as técnicas têxteis se desenvolveram em mãos femininas, uma vez que nasceram para suprir os cuidados com a família, papel historicamente imposto e assumido pela mulher. Assim, a tecelagem de roupas e peças para a casa evoluiu como um fazer doméstico, tão invisível social e economicamente como cuidar de filhos, cozinhar e lavar.
Com o surgimento dos primeiros mercados de trocas da Antiguidade, em vez de confeccionar apenas o bastante para o próprio lar, algumas mulheres passaram a produzir itens a mais, que eram trocados por outras mercadorias. Eis o embrião do que se tornaria um ofício importante até hoje, fonte de trabalho para elas e de renda para toda a família.
Da Antiguidade à Revolução Industrial, as tramas evoluíram de uma produção caseira rústica para minuciosas técnicas ensinadas de mãe para filha e consagradas em tradições locais. A exceção parece ter sido a tapeçaria, que, apesar da presença também no universo doméstico, floresceu nas confrarias masculinas medievais desde que se inventou o tear com pedal. Isso porque o equipamento era muito mais rápido de operar e facilitava a confecção de peças grandes e pesadas, como os tapetes que cobriam pisos e paredes de igrejas e palácios.
Atualmente, com a indústria têxtil suprindo nossa demanda utilitária, a tecelagem manual assume uma nova conotação e é aos poucos reconhecida por seu valor artístico e cultural. É o que acontece, por exemplo, quando as rendeiras de Ouro Preto, em Minas Gerais, são declaradas Patrimônio Imaterial do Brasil. Ou, ainda, quando um estilista tão famoso quanto Ronaldo Fraga leva para as passarelas a coleção #SomosTodosParaíba, composta de peças que valorizam a renda renascença e foram produzidas com a participação de mais de 100 rendeiras do litoral nordestino.
Na moda e na arte contemporânea, há espaço infinito para aliar elementos da tecelagem manual a novos formatos, técnicas, materiais e intenções –independentemente do gênero do artista ou tecelão, diga-se de passagem. O que conta é a sensibilidade para enxergar o potencial dos fios como expressão poética, matéria-prima mais que perfeita para alinhavar ideais, costurar cicatrizes e enlaçar afetos.

É hora de experimentar a arte da tecelagem. Seguindo este passo a passo idealizado pela educadora Marcela Pupatto, você produz o seu próprio tear e cria enfeites personalizados.

VOCÊ VAI PRECISAR DE:
• Papelão: um retângulo de cerca de 11 x 20 cm e um pedaço menor (uns 3 x 12 cm) para a navete (agulha). As medidas são apenas sugestões
• Lápis (ou caneta)
• Régua
• Tesoura
• Fita adesiva
• Linhas ou lãs diversas
• Garfo ou pente de cabelo de plástico
• Gravetos (ou palito de churrasco)

1 Nas pontas menores do papelão grande, faça marquinhas de 1 em 1 cm e corte fendas com 1 cm de profundidade.

4 Recorte o papelão pequeno na forma de um H para fazer a navete e use-a para enrolar o fio que vai tecer a trama.

7 Use o garfo para aproximar cada nova camada feita. Para trocar de cor, corte a linha e emende outra, dando um nó.

2 Usando fita adesiva, prenda a ponta da linha no verso do tear e passe-a para a frente através do primeiro corte.

5 Antes de começar a tecer as camadas, prenda o fio da trama no verso do tear utilizando fita adesiva.

8 Interrompa a trama a uns 4 cm do fim do tear. Corte um fio por vez e os amarre aos pares, formando a franja.

3 Puxe o fio até a primeira fenda do lado oposto e volte pela seguinte. Ao completar a urdidura, fixe a linha no avesso.

6 Com a régua, erga fios alternados. Passe a navete pelo vão até sair do outro lado. Inverta a posição dos fios e passe a navete de volta. Repita.

9 Solte a trama do papelão e passe um graveto pelas argolas que restaram no topo, escondendo a ponta do fio inicial.


Este equipamento simples serve para produzir diversos tipos de tecido e criar peças de decoração, roupas e até obras de arte
1 Do rolo traseiro saem os fios que alimentam a urdidura e, do lado oposto, o trabalho pronto é enrolado no rolo da frente. A tensão entre ambos mantém as linhas esticadas.
2 Uma agulha específica ajuda a inserir os fios da urdidura nos furos e fendas. O fio da trama fica enrolado na navete, que vai de um lado ao outro, por dentro da cala, formando as carreiras.
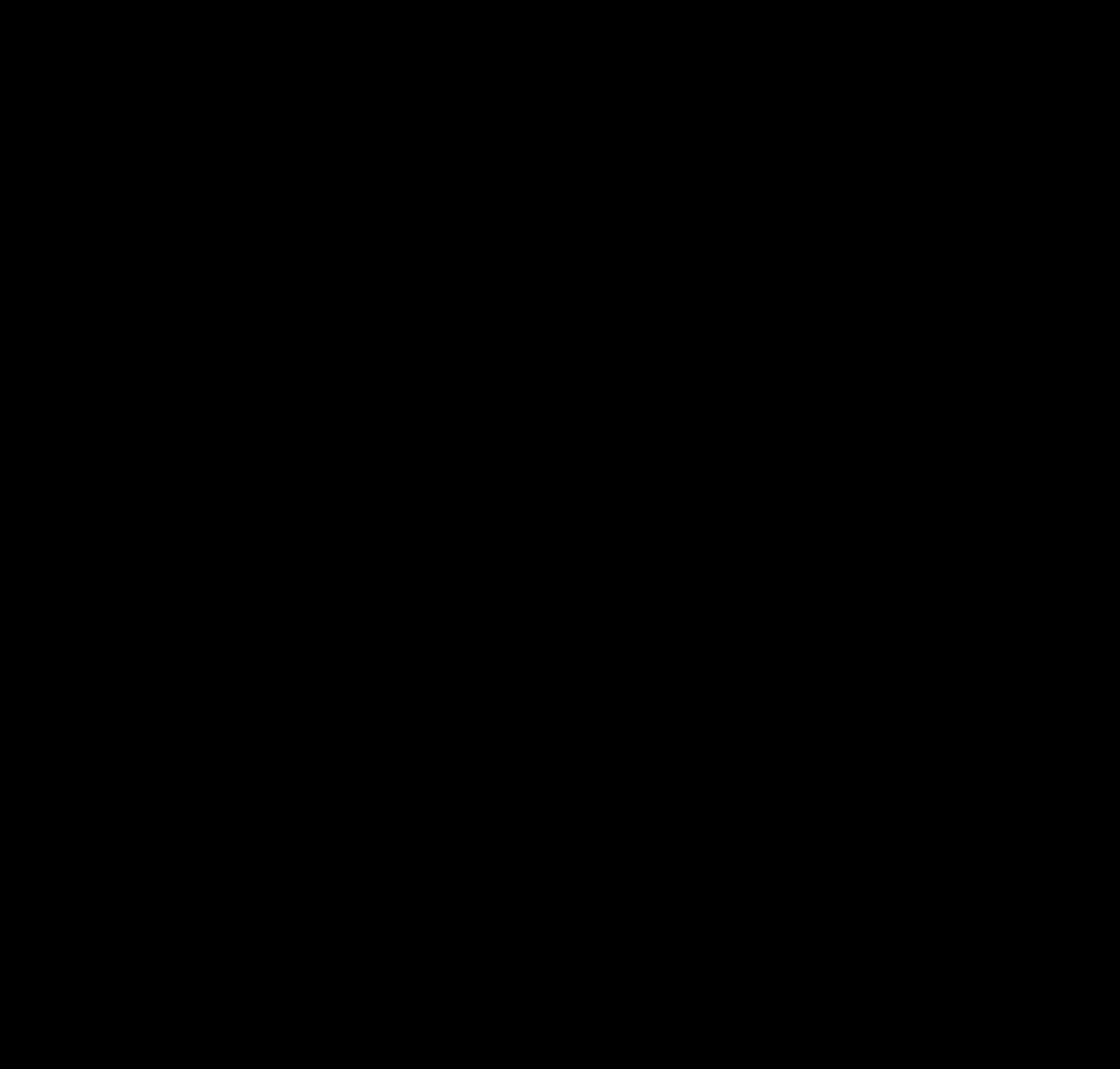
Um tecido não é feito embolando fios de qualquer jeito. É preciso entrelaçar da maneira certa, mantendo as linhas esticadas e organizadas, o que só se consegue com a ajuda de um suporte. Esse suporte, seja ele básico ou complexo, é o que chamamos de tear.
Desde os primeiros modelos, feitos há milhares de anos com quatro pedaços de pau, até as grandes máquinas elétricas de hoje, o princípio de funcionamento permanece o mesmo.
O principal objetivo do tear é facilitar o cruzamento de dois conjuntos de fios perpendiculares, ou seja, que formam um ângulo de 90 graus. O conjunto vertical recebe o nome de urdidura ou urdume, enquanto o horizontal é a trama. O que pode variar (e muito) são o tamanho, o formato, a capacidade
TEIA MÁGICA
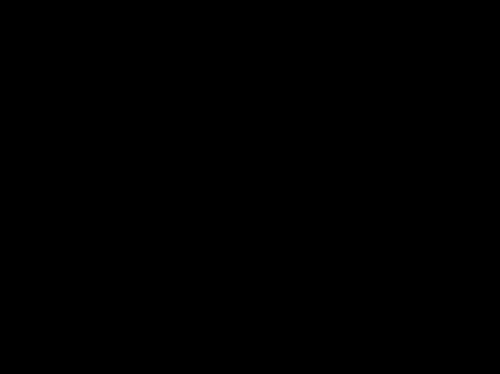
A urdidura é formada por fios paralelos presos de modo bem firme no tear. Depois vem a trama, um fio único que passa alternadamente por cima e por baixo de cada uma das linhas da urdidura para formar a teia do tecido.
3 Os fios da urdidura passam pelo pente alternadamente através de furos e fendas. Ao subir ou descer, o pente puxa uma parte dos fios, abrindo um espaço vertical chamado cala, que é por onde passa o fio da trama.
4 Os pés de cavalete são opcionais. Muitos teares de pente liço são formados somente pelo quadro e podem ser apoiados sobre uma mesa comum.
de criar desenhos diferentes e a velocidade de produção de cada equipamento.
O tear de pente liço predomina na tecelagem manual, pois é versátil, tem preço acessível e é mais ágil que outros modelos artesanais, como o de pregos. Ele se resume a um quadro com um rolo em cada ponta e, entre eles, uma barra cheia de furos e fendas, que é o tal pente liço. Geralmente de madeira, o equipamento mede de 20 cm a 1 m ou mais de largura: repare nessa dimensão, pois ela determina a largura máxima das peças tecidas, enquanto o comprimento só depende da quantidade de fio disponível.
Lãs variadas, fibras de sisal, tiras de couro, fitas de cetim e outros materiais podem ser combinados no tear de pente liço para elaborar os mais variados trabalhos. É só liberar a criatividade!

Sônia Paul
O tricô remete a uma malha macia e quentinha, em geral de lã ou algodão. Agora, imagine tricotar usando uma fita metálica no lugar da linha. Pois foi essa a experiência
inusitada da artista Sônia Paul (Siqueira Campos/PR, 1937) ao dar vida a Paradoxo, obra de tricô de aço, de 1986. O título é o arremate perfeito, pois “paradoxo” é a figura de linguagem que brinca com ideias contraditórias. A peça pode ser vista no Sesc Pinheiros e mede 1,40 m de altura, com largura de 0,90 m na parte superior e 1,10 m na inferior.


TRAMA DE PAPEL
O desafio aqui é montar uma trama de duas cores intercalando tiras de papel. Você precisará de tesoura e cola. Antes de começar, leia as instruções.
4
Cole as demais tiras amarelas, sempre alternando uma por cima e a outra por baixo da tira azul.
2
Recorte as 12 tiras que estão na aba (ou orelha) da capa do Almanaque e separe-as conforme a cor.
Posicione uma tira azul na horizontal e uma amarela na vertical. Cole a tira amarela na azul, no primeiro campo onde estiver escrito “cole aqui”.
3
A próxima tira amarela deve ser fixada por baixo da azul, no lado avesso.
5
Agora você fará o mesmo com as outras tiras azuis, só que na horizontal: cole a segunda azul sobre a primeira amarela e prossiga com as demais, revezando em cima e embaixo.
6
Depois de fixar todas as tiras azuis na primeira amarela, faça a trama. O objetivo é criar uma composição que intercale quadrados amarelos e azuis
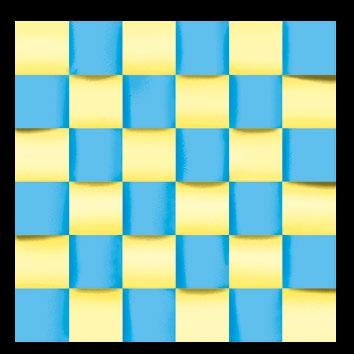
Seu quadriculado ficou certinho?
Então use cola para grudar as pontas de todas as tiras. A trama está pronta!
Ao ver sua criação, o que você acha que ela poderia ser?
Um jogo americano para as suas refeições? Um tabuleiro para jogos? Um tapetinho?

TRAMANDO BATALHAS
Jogadores: 2 | Duração: 10 a 15 min
Preparo: Recorte os gabaritos (palheiros) e as figuras da página ao lado. Cada jogador ficará com dois palheiros e um kit de materiais de costura. Reserve lápis e borracha para fazer as anotações em um dos gabaritos.
Descrição: Você é capaz de encontrar uma agulha em um palheiro?
E todo o material de costura?
O jogo Tramando Batalhas funciona como o Batalha Naval. Porém, em vez de bombardear navios, você deve localizar a tesoura, a linha, a fita métrica, o alfineteiro, a agulha e o dedal que estão escondidos no palheiro do seu oponente.
Como jogar: Sem que um participante veja o jogo do outro, cada um deve posicionar as seis figuras em um dos gabaritos, ocupando casas na horizontal ou na vertical, mas nunca na diagonal. Também não vale sobrepor itens nem mexer na sua localização depois que a partida começar.
O jogo inicia com alguém tentando adivinhar onde está um dos
objetos do oponente. Para isso, é só dar as coordenadas: uma letra e um número do gabarito. Se não acertar em nada, o outro dirá “PALHA!”; se acertar em uma das figuras, o outro dirá “ACHOU!”. Os erros podem ser marcados com um x no segundo gabarito e os acertos com uma bolinha, por exemplo.
Os jogadores vão se revezando. Quando um deles encontrar a totalidade de um objeto (a tesoura inteira, por exemplo), o outro deve dizer: “Você achou a tesoura!”. Vence a partida quem localizar primeiro os seis objetos do outro.
Para jogar de novo, é só apagar os riscos feitos a lápis.












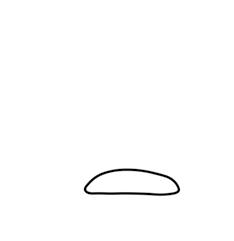

Já pensou em todas as tramas que encontramos por aí?
Sabia que os animais também tecem e tramam? Tramam tanto que até constroem ninhos, teias e tocas!
Aposto que você trama também, e tão bem que pode inventar tantas teias quanto tentar.
Que tal construir uma teia artística? Bastam barbante e um tanto de travessura. Já pensou?

Você consegue encaixar todas estas palavras do universo têxtil nesta grande trama? Dica: Tente contar a quantidade de letras para encaixá-las adequadamente.
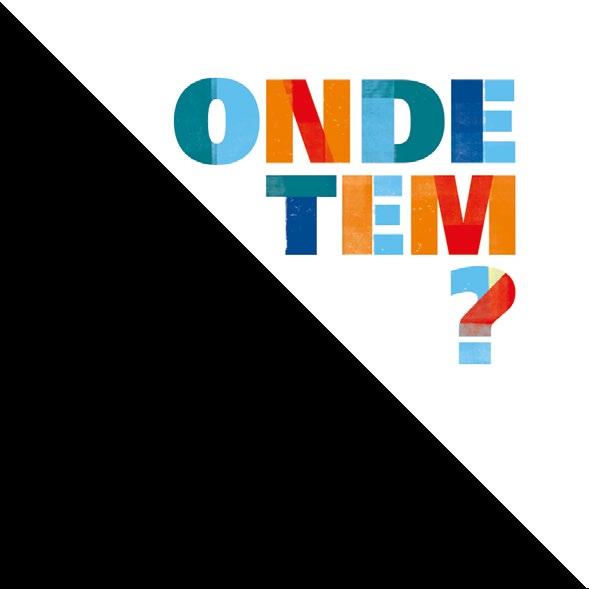
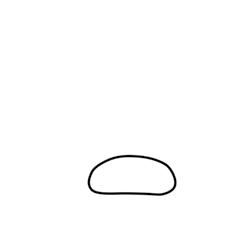
Você já tramou enquanto jogava? Aqui, além de tramar estratégias, você poderá tramar com cores no papel.
Esta página reúne três jogos para dois participantes ou mais, sendo que alguns deles podem ser jogados mais de uma vez.
Nas partidas, cada jogador escolhe uma cor de lápis, que pode ser repetida depois. Ao término de todos os jogos, observe a trama
visual feita de cores e traços que vocês criaram – com certeza vão se surpreender! No fim, também podem colorir os espaços em branco.
Preparo: Separar uma caixa de lápis de cor. Aqui, ele é melhor que a canetinha, pois não mancha o verso do papel.
JOGO DA VELHA
Jogadores: 2 | Duração: 1 a 3 min
Exemplo: jogo vencido pelo azul
Jogo empatado: “velha colorida”
Jogadores: 2 a 4 | Duração: 5 a 10 min
Descrição: Neste jogo tão conhecido, em vez de marcar X e O, a ideia é usar cores.
Como jogar: Para brincar no tabuleiro de três linhas por três colunas, cada participante escolhe um lápis de cor diferente. A cada jogada, um deles pinta um quadrado vazio. O objetivo é conseguir três casas da mesma cor em linha – horizontal, vertical ou diagonal –, enquanto se impede o oponente de fazer o mesmo. Se ninguém completar uma trinca, a partida termina em empate, ou melhor, em “velha colorida”!
Descrição: Ganha o jogo quem fechar e pintar mais quadrados!
Como jogar: Cada participante joga com uma cor, ligando pontos em um tabuleiro. Quem inicia faz um traço para juntar dois pontos vizinhos na horizontal ou na vertical – não vale diagonal nem pontos distantes. O próximo jogador repete a ação em qualquer parte do tabuleiro. Quando alguém fechar um quadrado, deve pintá-lo com sua cor e jogar novamente: se conseguir completar outro, joga mais uma vez e assim por diante. A partida termina quando não houver mais pontos para ser ligados. E vence quem tiver mais quadrados com a sua cor.
Exemplo: por enquanto, o placar é de 2 a 1 para o vermelho
S.O.S.
Jogadores: 2 a 5 | Duração: 10 a 15 min
S O S O S O S S O S O S O O S S S O S S O
Exemplo: neste jogo incompleto, o azul está em vantagem
Descrição: Forme mais SOS que seu oponente e se salve de perder a partida!
Como jogar: No tabuleiro de 15 x 8 quadrados, cada jogador usa uma cor para escrever “S” ou “O” em um quadrado vazio, alternando-se. O objetivo é criar uma sequência contínua de S-O-S, na vertical, horizontal ou diagonal (veja no exemplo). Os participantes se revezam e quem completar a palavra repete a jogada até que não consiga formar mais nenhum SOS ao acrescentar apenas uma letra. Então passa a vez ao próximo, e assim a brincadeira prossegue. A cada SOS formado, o participante o risca com a sua cor. Quando os quadrados em branco acabarem, acaba a partida. Vence quem tiver o maior número de SOS.
Dica: Como se trata de uma trama, cada letra pode fazer parte de vários SOS. Não vá se confundir: OSO não vale, somente SOS!
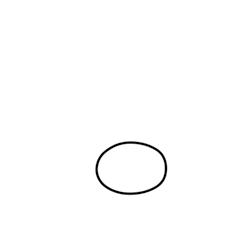






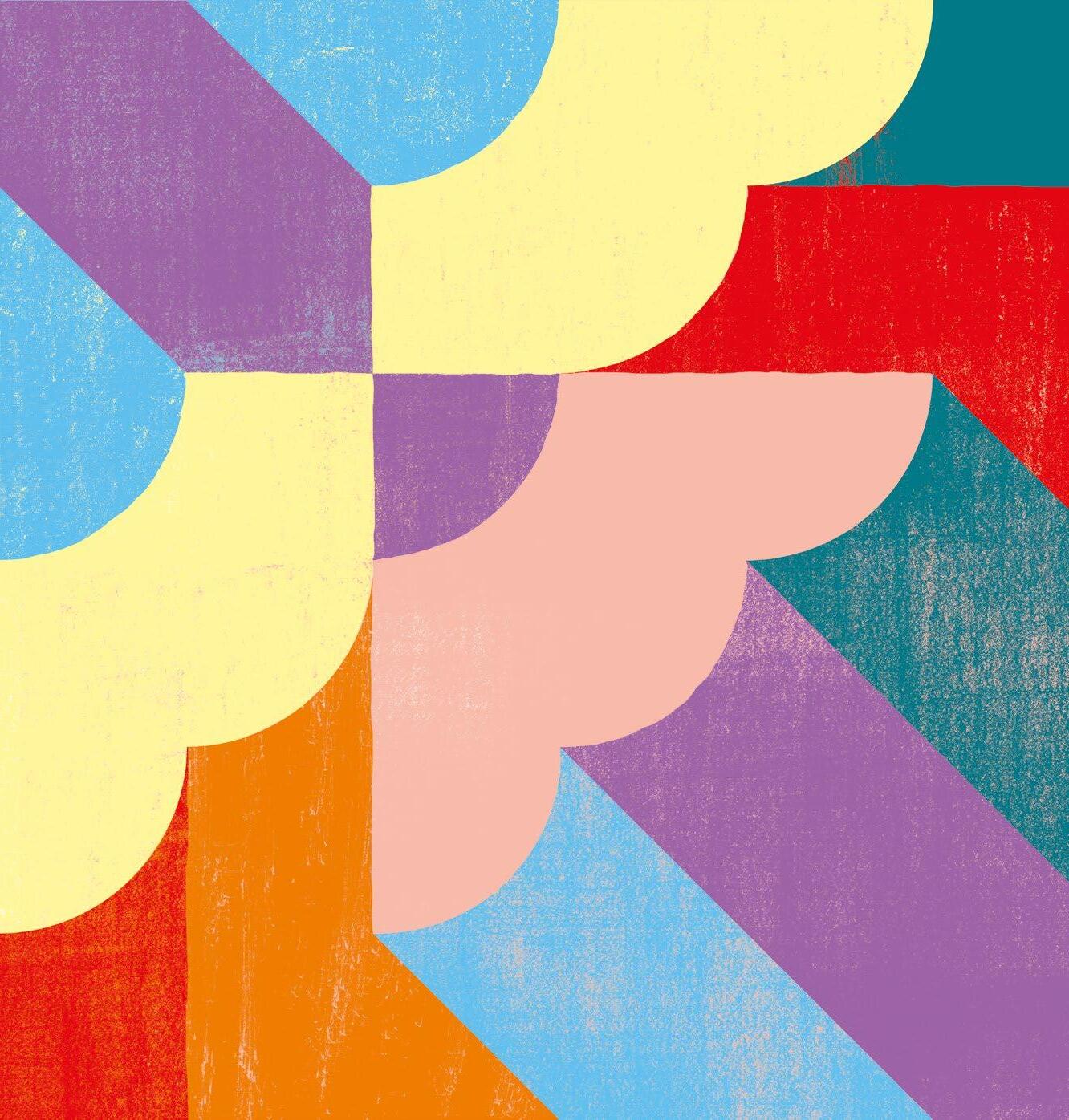

Se até letras e números escritos num papel são uma maneira de desenhar, então tudo é desenho, e provavelmente seríamos incapazes de viver sem ele
Bichos e pessoas que combinam graça e monstruosidade, com formas distorcidas, membros esticados, feições exageradas e alguns olhos a mais – ou a menos. Boa parte das criações infantis caminha por aí e ignora técnicas essenciais de desenho, como proporção e perspectiva. Só que isso não faz a menor falta às crianças. Sua intenção não é, necessariamente, a de reproduzir com fidelidade o que está à volta, mas, antes, passar para o papel o que está na imaginação.
Quando crescem, muitas desistem de se expressar por meio do traço, talvez pela frustração de se compararem a padrões quase inalcançáveis. Nem todas serão um Leonardo da Vinci – aquele que pintou o mais famoso quadro de todos os tempos, a Mona Lisa, de 1503 –, mas se as técnicas não fazem falta às crianças, também não precisam ser cobradas de quem já é crescidinho. Então, vamos combinar que todo mundo sabe desenhar? Sem contar que o desenho não é uma ferramenta exclusiva da arte.
Estilistas, cineastas e arquitetos fazem os chamados croquis para mostrar suas ideias para uma roupa, uma cena e uma casa. Assim como os primeiros cientistas dependiam do lápis, séculos atrás, para retratar plantas e animais que iam descobrindo (veja nas págs. 36 e 37)
Desenhamos porque precisamos nos comunicar. Os primeiros sistemas de escrita nasceram de desenhos – eram conjuntos de símbolos que representavam objetos do dia a dia, partes do corpo e elementos da natureza. Exemplo disso são os
hieróglifos da época dos faraós egípcios, que incluíam vasos, mãos espalmadas e besouros.
Mesmo após a criação dos alfabetos atuais, os traços são imbatíveis para dizer muito com pouco. Pense na sinalização de trânsito: uma seta revela a direção a seguir, um carro cortado por um risco na diagonal avisa que a passagem é proibida a veículos, uma linha tracejada no asfalto indica que a rua é de mão dupla. Foram necessárias 36 palavras para transmitir as mesmas informações que três símbolos figurativos! E não é preciso saber ler para entender o recado.
A tecnologia transformou a maneira como nos comunicamos e, curiosamente, resgatou ideias do passado: as figurinhas nos aplicativos de celular tomam o lugar das palavras, tal qual nos alfabetos da Antiguidade. Ao mesmo tempo, numa época em que a digitação substituiu a escrita à mão, a arte da caligrafia é revalorizada na personalização de mensagens no ambiente eletrônico.
Essa crescente necessidade de expressar algo pessoal, único é mesmo uma marca da modernidade. Chega à exposição pública. O espaço urbano é tomado por figuras e letras coloridas grafitadas nos muros, em mensagens sociais que vão além dos desenhos em si (veja mais na pág. 86)
Estudiosos acreditam que desenhar nos ajuda a memorizar as informações observadas, organizar o que foi aprendido, concretizar as ideias e entender o mundo. É um jeito de pensar visualmente. E tudo isso pode começar com um bichinho torto com olhos a mais ;-)
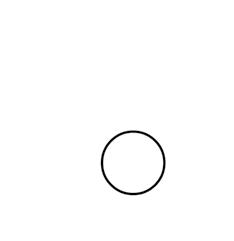
O traço não é apenas instrumento da arte: é também poderoso aliado do conhecimento. O desenho nos ajuda a organizar ideias, a visualizar problemas e soluções, a registrar um aprendizado e, mais tarde, passá-lo adiante. Mesmo no fazer artístico, ele é parte do ferramental de criação de uma obra, ou seja, dos meios necessários para chegar a ela, como o planejamento e o detalhamento de sua execução. Da ciência à cultura, uma longa lista de atividades humanas não teria saído do papel sem o desenho à mão.
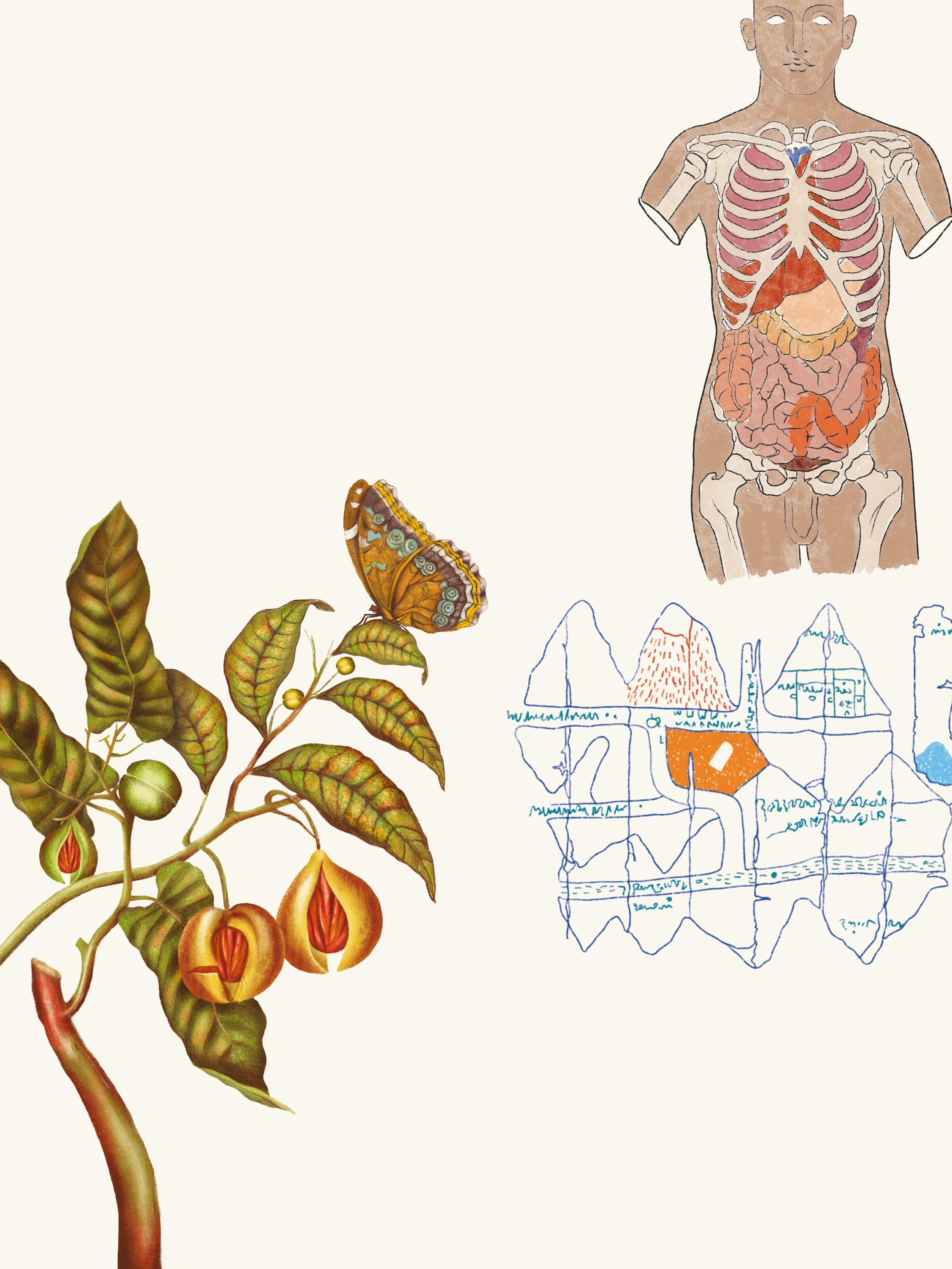
Descrever, organizar e dar nomes a plantas, fungos e animais são tarefas do ramo da ciência chamado taxonomia. Parte do trabalho é ilustrar esses seres (para referência e consulta), e o desenho com lápis de cor, giz e nanquim, entre outras técnicas, continua importante. Ele é melhor que a fotografia quando se deseja simplificar e detalhar uma estrutura ou mostrar uma parte interna.
Um dos mais antigos mapas que conhecemos é um papiro com estradas e montanhas, traçado com pincel há mais de 3 mil anos, no Egito. Hoje, a arte de criar mapas, ou cartografia, é toda digital, baseada em dados de satélites. É uma evolução, um processo que durante muitos séculos contou apenas com ilustrações à mão, como as cartas de navegação que trouxeram os europeus à América moderna.
Sem radiografias, os gregos da Antiguidade tinham de observar e desenhar o corpo humano para entender seu funcionamento. Tal ciência, batizada de anatomia, avançou na Europa nos séculos 14 e 15 graças a diversos sábios. Entre eles, Leonardo da Vinci, que, usando a sanguínea (um tipo de giz avermelhado), fez dezenas de ilustrações precisas de músculos, veias e órgãos. Desenhos admirados e analisados até hoje.
Passarela ou guarda-roupa: qualquer que seja o destino de um figurino, tudo começa na cabeça do estilista. Geralmente munido de caneta hidrográfica, ele faz um desenho, conhecido como croqui, para estudar cores, tecidos, corte, caimento e relação com outros itens da coleção. Em seguida, cria uma versão mais técnica da ilustração, que serve como manual para quem costura as peças.
De maneira parecida com o que ocorre na moda, um prédio nasce dos rabiscos que o arquiteto faz a lápis, também chamados de croqui. É ali que o profissional decide formatos, volumes, o modo como a construção se apresentará no espaço e a aparência que terá. Depois disso, ele inclui medidas e dados técnicos, até chegar ao projeto final, elaborado com o auxílio do computador.
O roteiro de um filme traz as falas dos personagens, indica o local da ação e conta o que será mostrado. Já a maneira como tudo isso será filmado é definida pelo storyboard. Trata-se de uma sequência de desenhos (quase sempre feitos a lápis pelo próprio diretor) em que cada cena é planejada: a posição de atores e objetos, a iluminação, os ângulos e movimentos das câmeras.

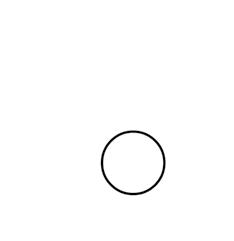
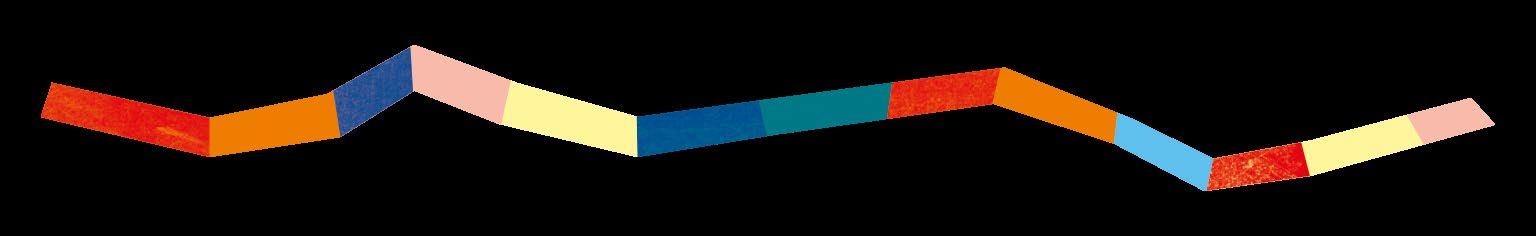
O ser humano tem usado o desenho para se expressar e se localizar. Às vezes, para as duas coisas ao mesmo tempo, como mostram a evolução dos mapas e nossa relação com eles
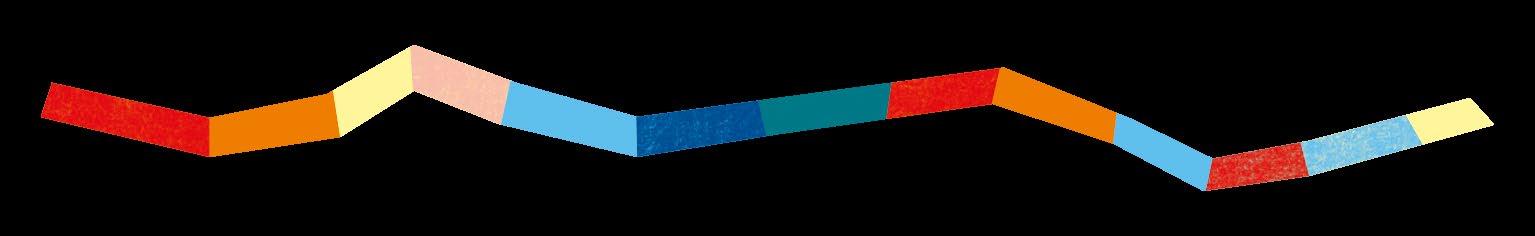
Talvez você já tenha visto alguns dos desenhos que nossos antepassados pré-históricos fizeram há dezenas de milhares de anos em paredes de cavernas. Na maioria dos casos, retratam animais como touros, cavalos, cabras e antílopes.
No meio de parte dessas imagens, os arqueólogos encontraram pontos que reproduzem fielmente grupos de estrelas que podiam ser vistos nos céus. Essa descoberta sugere que nossos ancestrais tinham conhecimentos básicos de astronomia. Para especialistas, as representações do céu também ajudavam a marcar a passagem do tempo.
Os desenhos ainda contribuem para a localização no espaço de maneira prática. Os primeiros mapas surgem na Antiguidade (pág. 36), a partir de 4000 a.C. Concentravam-se naquilo que se enxergava ao redor. Nada mais natural, já que a função de tais representações era registrar um novo lugar ou caminho, de modo que o autor pudesse memorizá-lo ou ensiná-lo a alguém. Assim, o mais importante era mostrar pontos de referência facilmente reconhecíveis, como montanhas, vales e rios.
Com o tempo, melhoramos na tarefa. E veio algo curioso: enquanto os dados geográficos ficaram mais precisos, outro tipo de informação passou a dar as caras. Em alguns mapas europeus da Idade Média, por exemplo, Jerusalém, a Terra Prometida dos cristãos, ocupava lugar de destaque como se fosse o centro do mundo.
No período das grandes navegações, a partir do século 15, o desenho dos oceanos incluía criaturas monstruosas que, segundo se imaginava, ameaçavam as embarcações. Ou seja, os mapas começaram a mostrar também as crenças e imaginação da época.
Avanços tecnológicos revolucionaram esse campo do conhecimento, como a fotografia aérea, a informática e as imagens por satélite. Em consequência, se antes os mapas tinham ao menos um toque artístico, desde então eles se tornaram puramente científicos. Só que isso não diminuiu a presença das pessoas neles. Ao contrário, só a destacou, por meio de estradas, pontes, represas e cidades – construções feitas por mãos humanas.
Hoje, com a navegação por GPS ao alcance do dedo, na tela do celular, nossa relação com os mapas mudou. Os pontos de referência continuam lá, porém como ícones padronizados: talheres para indicar restaurantes, bomba de combustível para postos de gasolina, cama para hotéis e por aí vai. Como tudo é apresentado quase em tempo real, quem usa os aplicativos de trânsito sabe na hora se há acidentes e obras que podem prejudicar a circulação – ícones de carros batidos e homens trabalhando se juntam às demais informações na tela.
Basta uma conexão de internet para ninguém ficar perdido, é só seguir o traço colorido no software. Mas se acabar a bateria, as estrelas continuam lá no céu, prontas para nos ajudar a encontrar a rota correta.

Sabia que dá para desenhar com fita isolante? Chamada de “tape art”, a técnica sugerida pela educadora Erika Kogui de Moura é ótima para decorar paredes: se enjoar, é fácil de tirar.

VOCÊ VAI PRECISAR DE:
• Trena ou fita métrica
• Folha de papel sulfite
• Régua
• Lápis
• Borracha
• Apontador
• Rolo de fita adesiva colorida
• Rolo de fita isolante
• Rolo de fita crepe (ou pequenos papéis adesivos)
• Tesoura
• Estilete

1 Meça a altura e a largura máximas que o desenho terá na parede usando múltiplos de 10. Exemplo: 90 x 130 cm.

4 Com fita adesiva, marque na parede a área do desenho.

7 Certifique-se de que a fita isolante não está muito esticada para que não descole com o tempo. Siga até terminar.

2 Trace um quadriculado no papel, seguindo as proporções que mediu: 90 x 130 cm se transformam em 9 x 13 quadrados.

5 Faça o quadriculado com fita adesiva. Identifique linhas e colunas com números e letras escritos em fita crepe.

8 Corte as sobras de fita isolante ou reduza sua largura para afinar o traço. Retire a fita adesiva do quadriculado.

3 Crie o desenho: use apenas linhas retas, pois na parede ele será feito com fita. Tudo bem se sobrar espaço.

6 Tomando o quadriculado como guia para saber onde começa e termina cada reta do desenho, aplique a fita isolante.

9 Se preferir, mantenha a fita adesiva em partes do desenho, de modo a criar detalhes interessantes. Pronto!
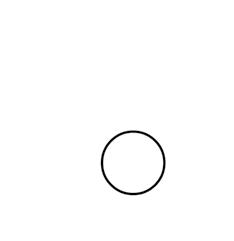
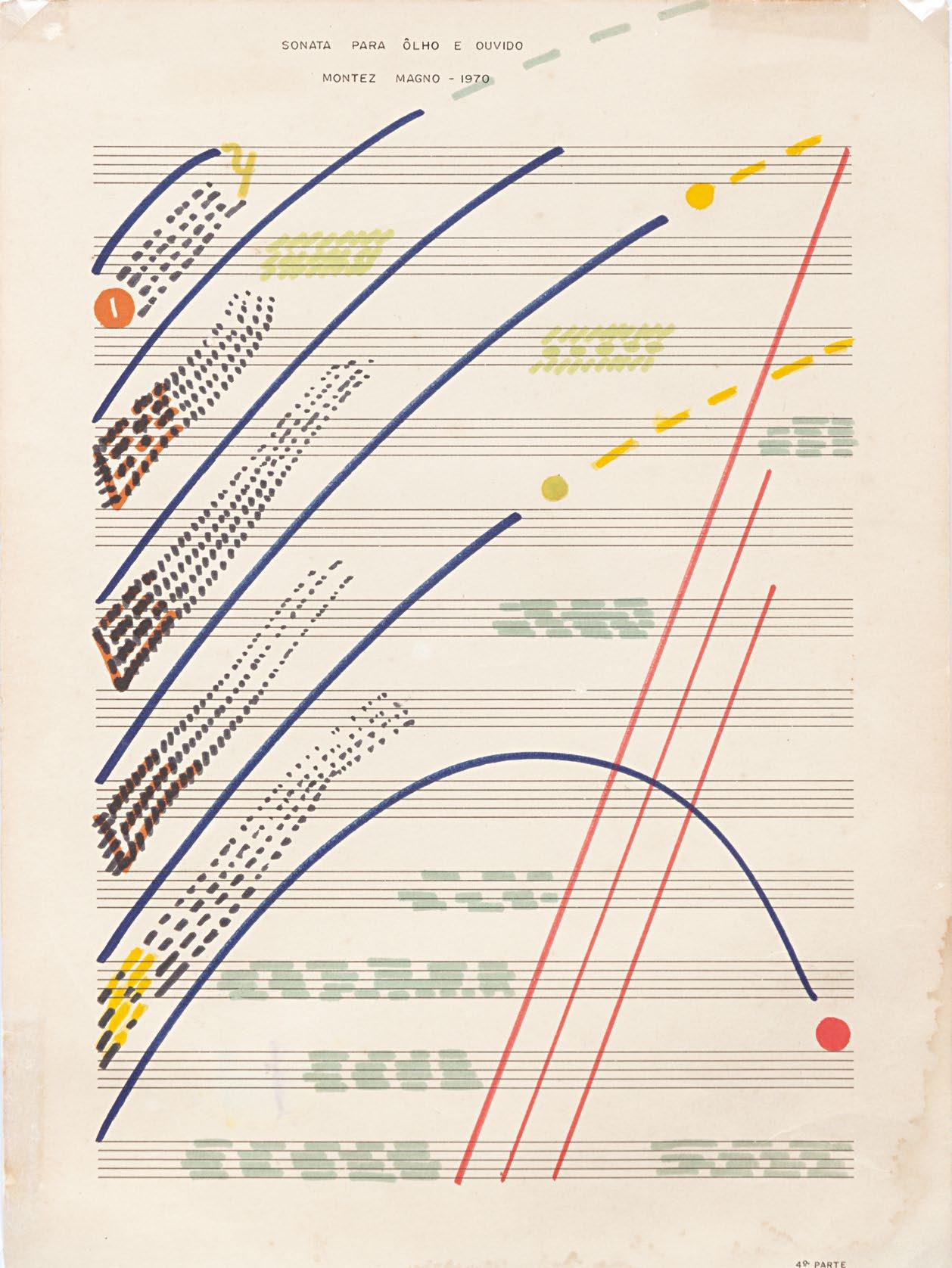
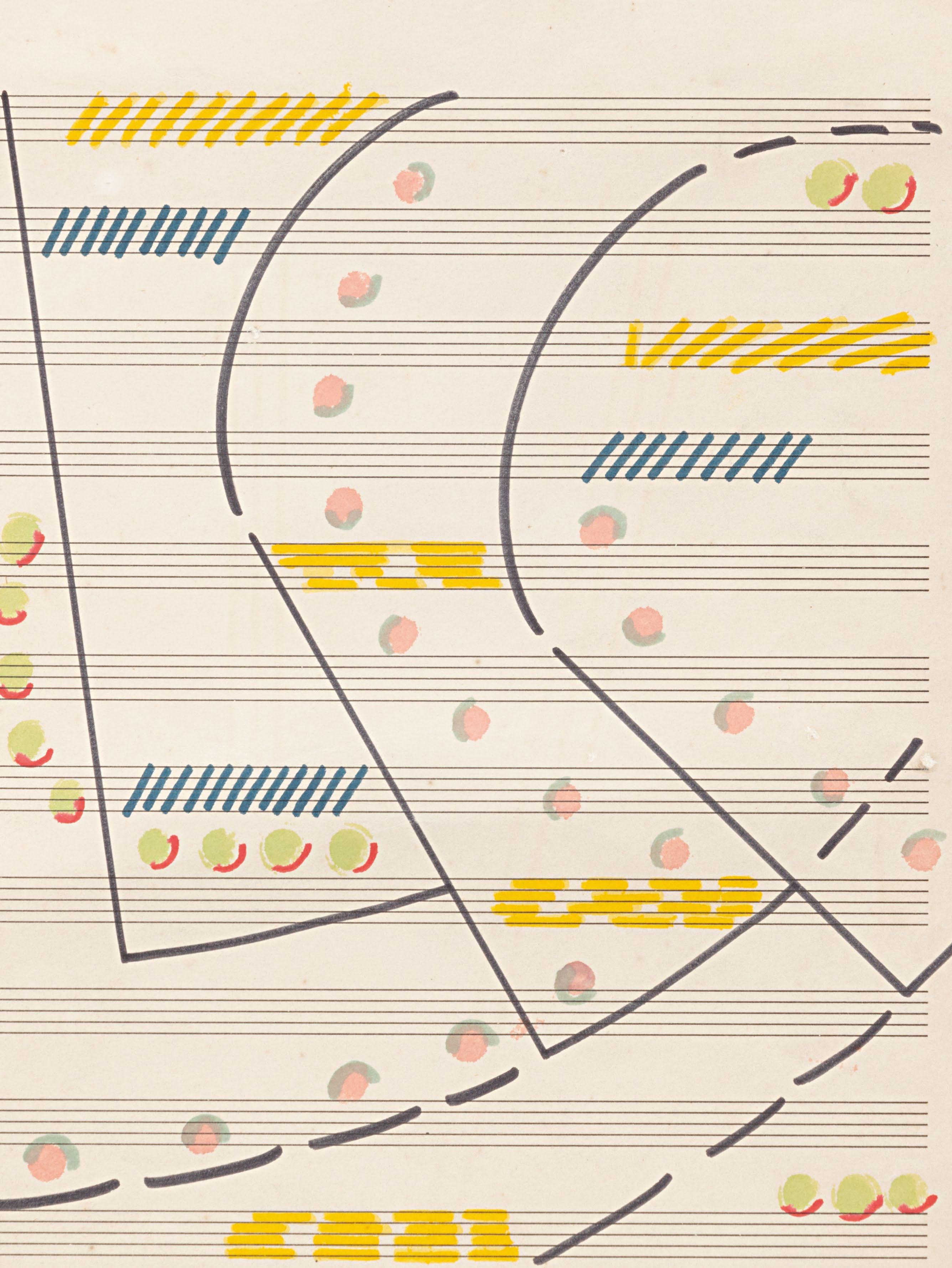
SONATA PARA OLHO E OUVIDO Montez Magno
A arte abstrata expressa em um bocado de formas e cores livres. Essa é uma das especialidades do pintor, escultor e poeta Montez Magno (Timbaúba/PE, 1934). Exemplo disso são as obras Sonata para Olho
e Ouvido Parte 1 e Parte 2, de 1970, que integram a série Notassons , dedicada à música. Para criar cada exemplar de 23,5 x 32,5 cm, o artista valeu-se de caneta hidrográfica e papel pautado, o mesmo usado por quem escreve partituras. Assim, os traços se somam à superfície em que foram pintados, compondo um balé visual que lembra notas musicais. As obras estão instaladas no Sesc Guarulhos.
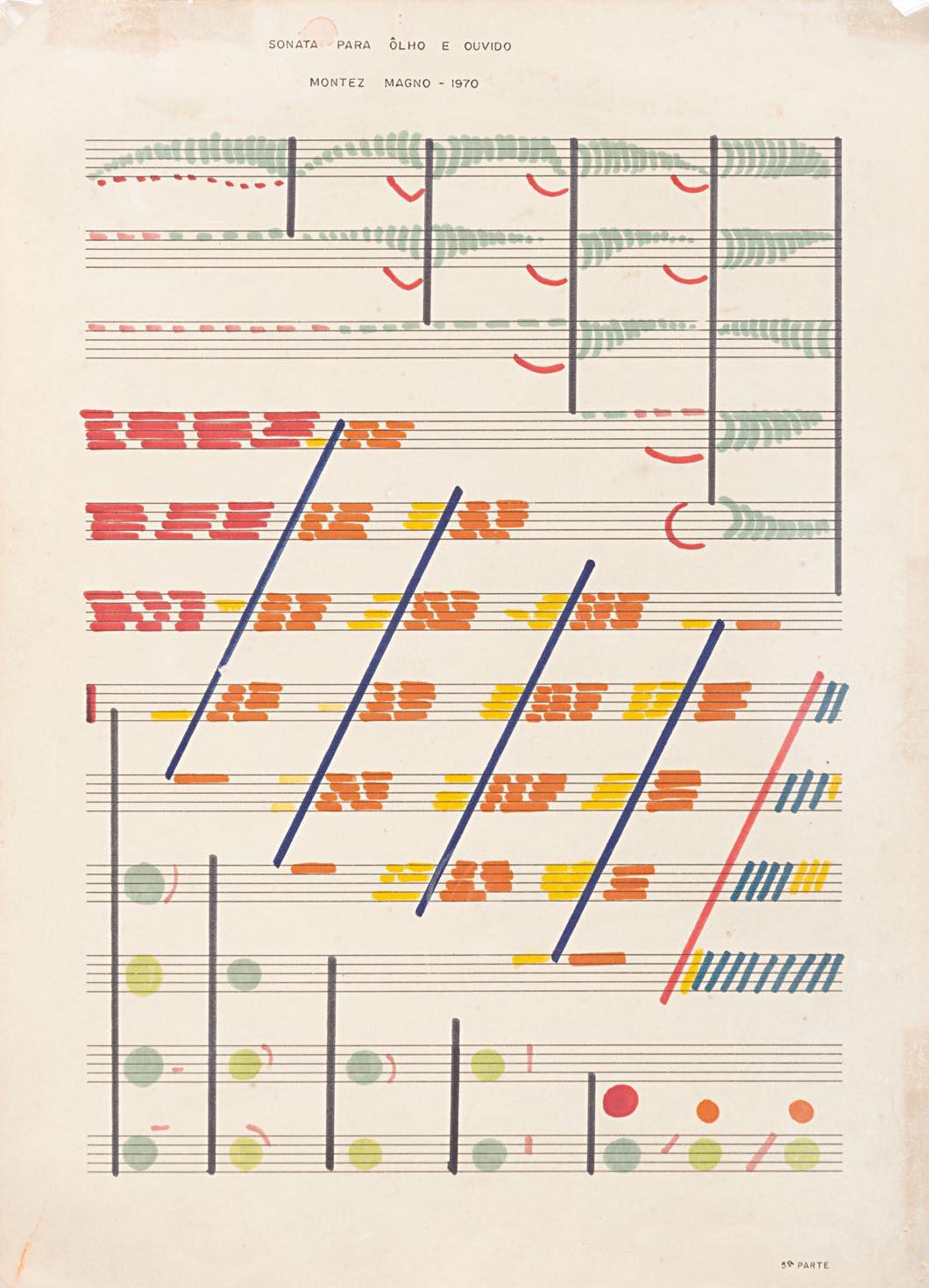
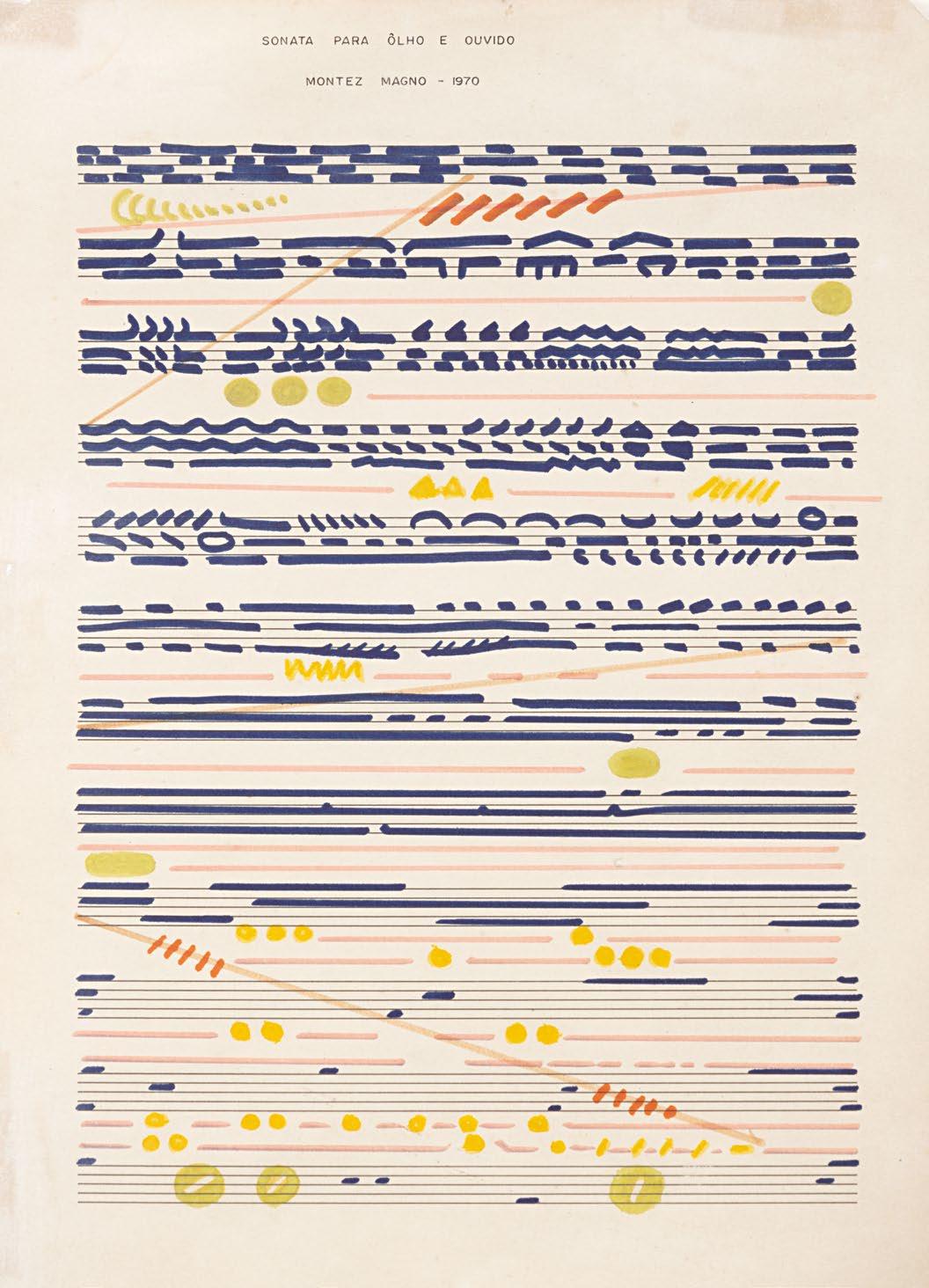
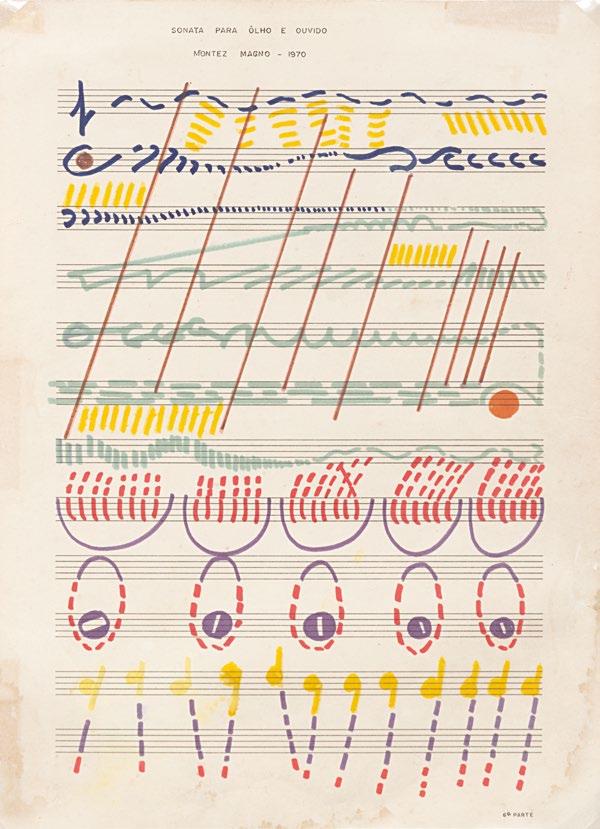
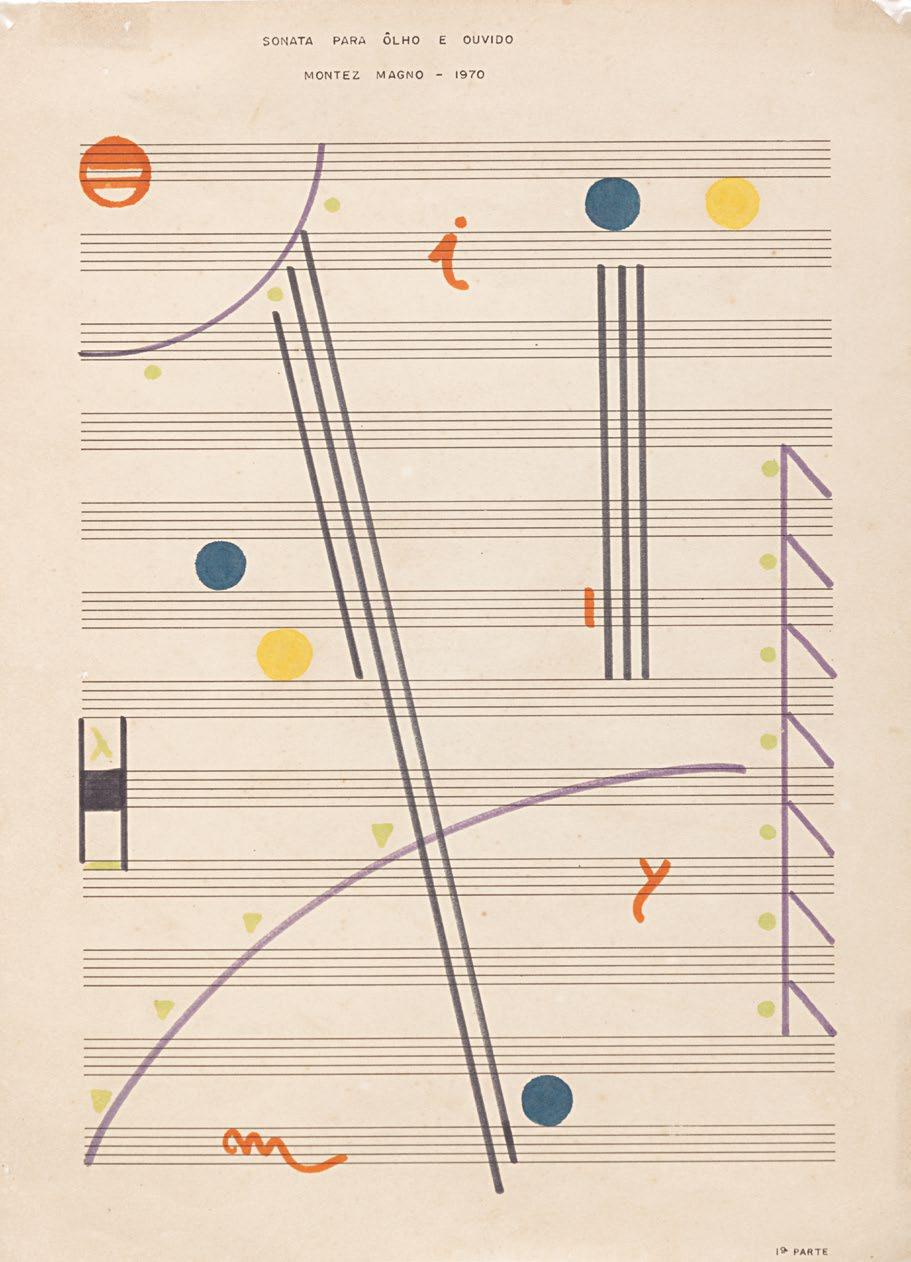
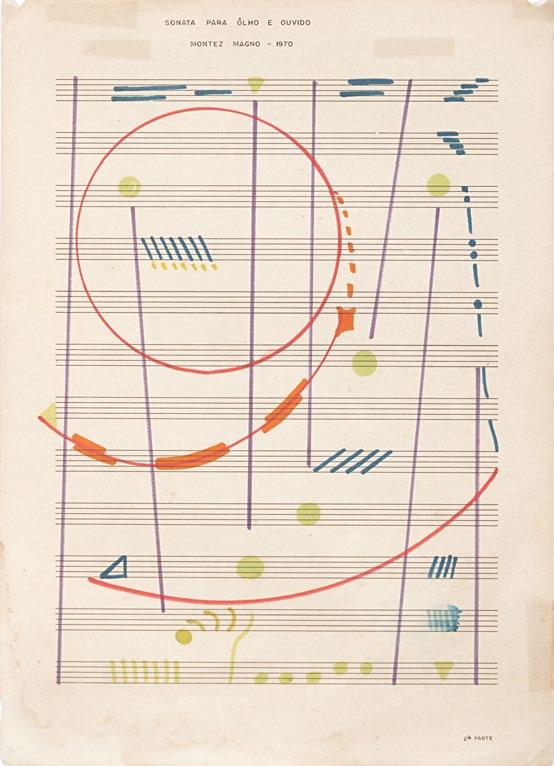
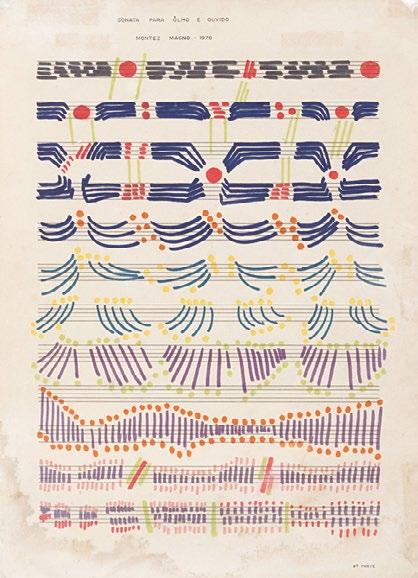
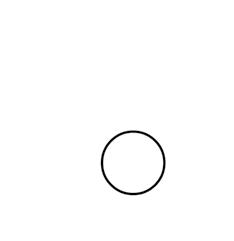
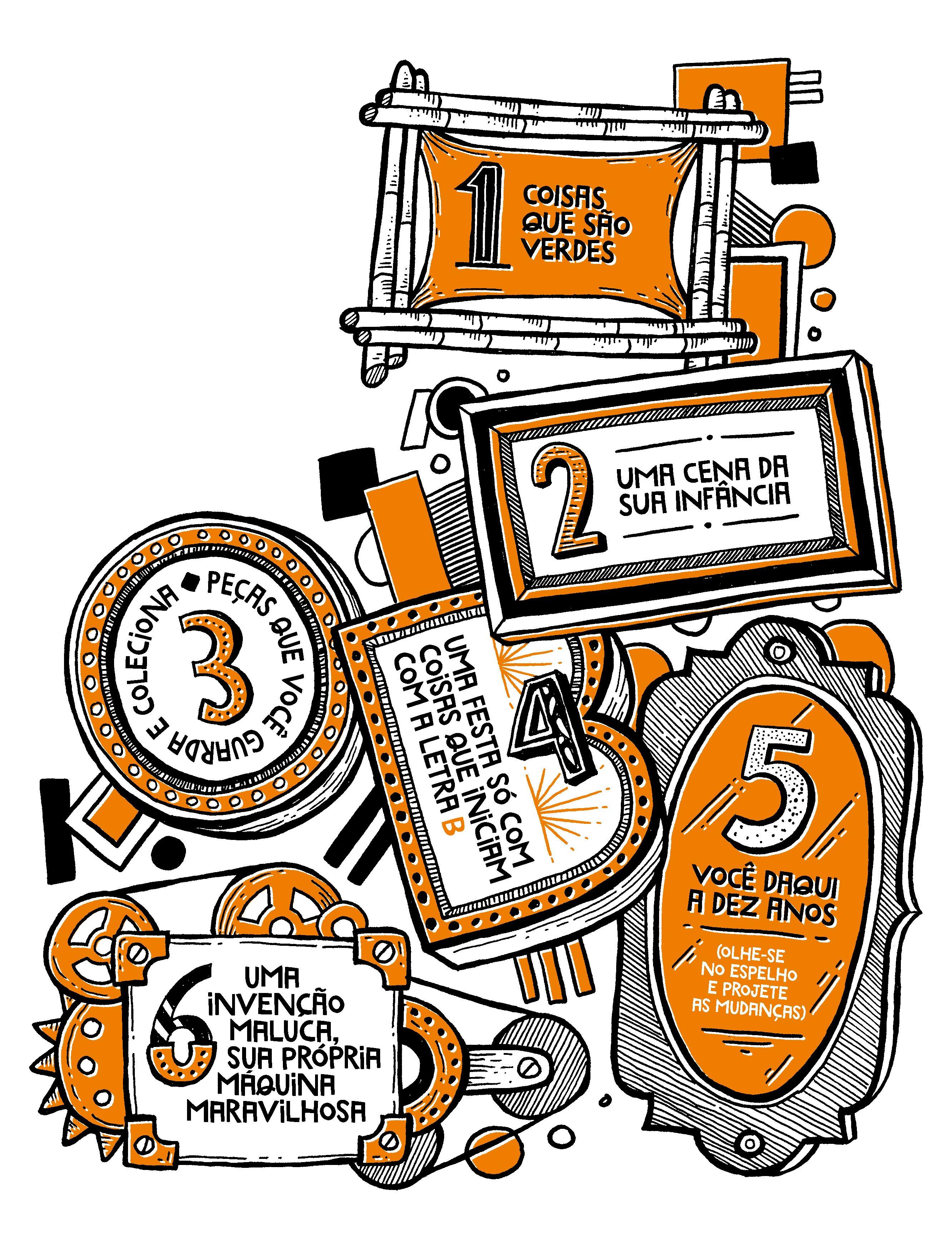
O que você acha de fazer um desenho por dia, durante duas semanas?
A proposta é soltar o traço de diferentes maneiras, sem pensar se o resultado ficou bonito ou não.
Confira as sugestões desta página e embarque no desafio. Para isso, você vai precisar de folhas de papel, lápis, giz ou canetinha.
Sua missão é se divertir enquanto desenha!
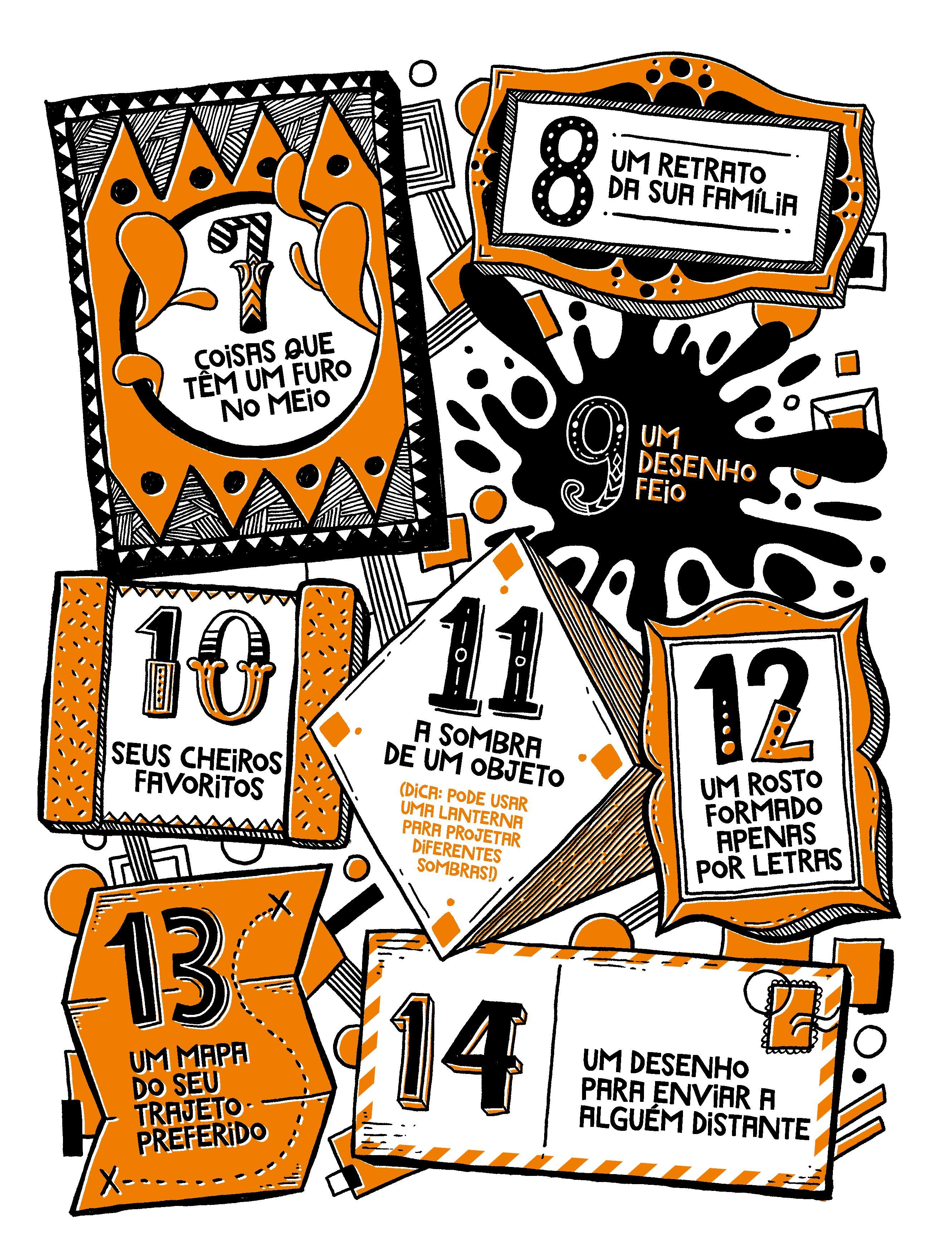
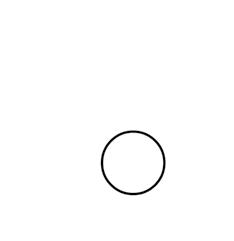
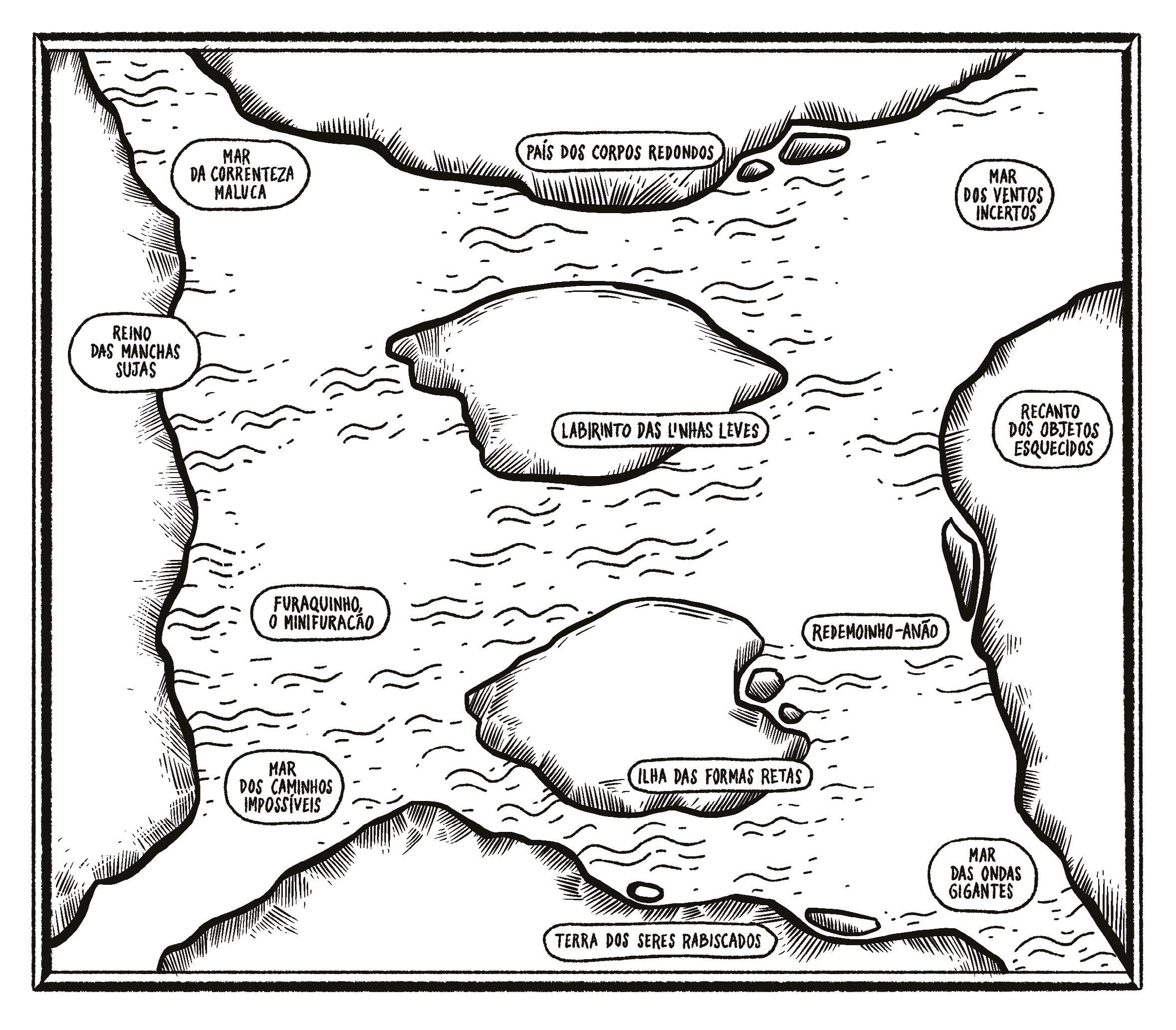
Você sabia que, muito antigamente, o desenho foi fundamental para construir mapas, representar territórios e retratar habitantes de terras desconhecidas?
Aqui você vai experimentar um pouco disso por meio de um novo desafio: completar este mapa.
Que tal começar povoando cada território? Quem vive na Ilha
das Formas Retas? Como são os moradores do Reino das Manchas Sujas? Deixe sua imaginação viajar enquanto desenha os habitantes dessas nações.
Em seguida, indique no mapa como são os mares que o compõem, mas você só pode fazer isso usando traços. Como seriam as linhas do Mar dos Ventos Incertos? E as do Redemoinho-Anão?
Para finalizar, desenhe as rotas marítimas que ligam os territórios de mesma cor. Mas tem um detalhe: as rotas não podem se cruzar.
Quer uma dica? O Reino das Manchas Sujas e o Recanto dos Objetos Esquecidos são grandes navegadores, portanto, deixe essa duplinha por último!

Já pensou no primeiro desenho feito no mundo? Como será que era o traço? Quem fez? Com o quê? Alguém viu?
São tantas as perguntas e desenhos… Isso leva a outras questões: afinal, por que desenhamos? É possível uma sociedade nunca desenhar?
Já pensou em um mundo sem desenhos? Por que são criados desenhos tão diferentes em épocas e lugares variados?
Já pensou que não existe apenas um jeito de desenhar? Que seu jeito de traçar linhas é único?
Já pensou mesmo? Então desenhe a resposta como só você pode!

Este emaranhado de palavras e traços esconde seis frases ditas por artistas. Passeie pelas linhas em busca dessas frases enquanto pensa sobre a arte de desenhar. Se estiver inspirado, trace outros caminhos e encontre novas definições. Veja as frases de artistas famosos que nos inspiraram para este jogo na pág. 94.
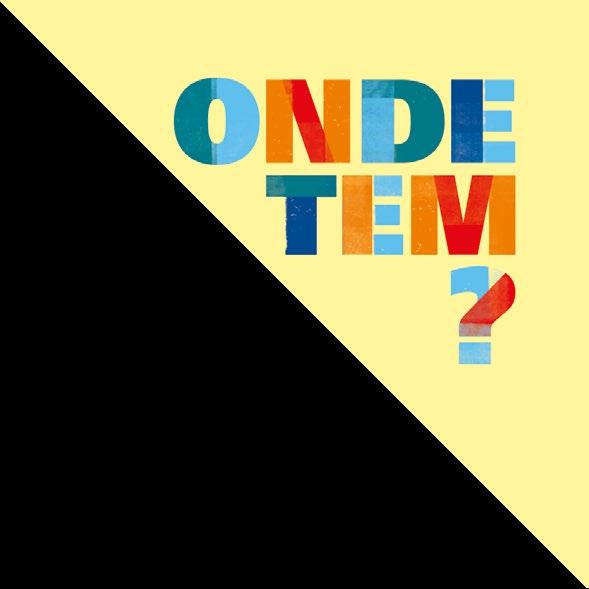

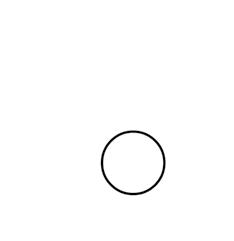
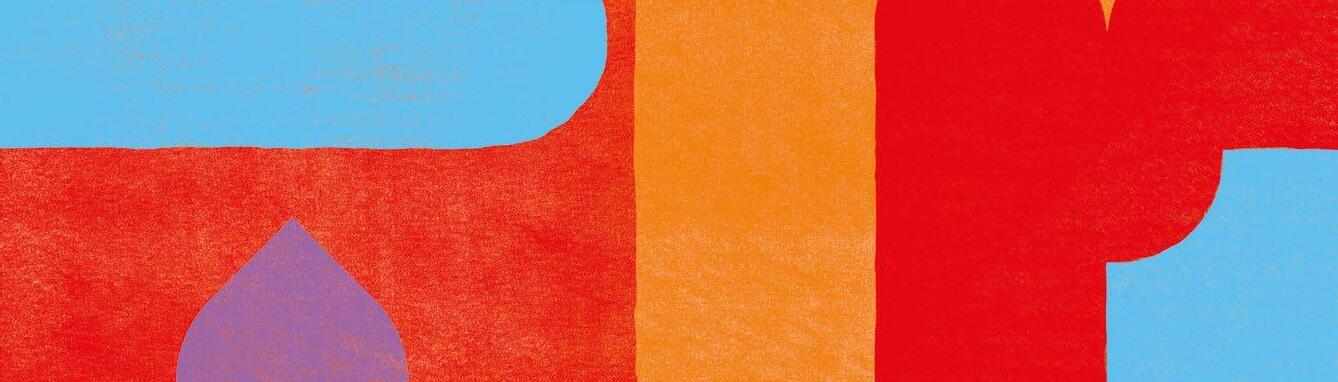


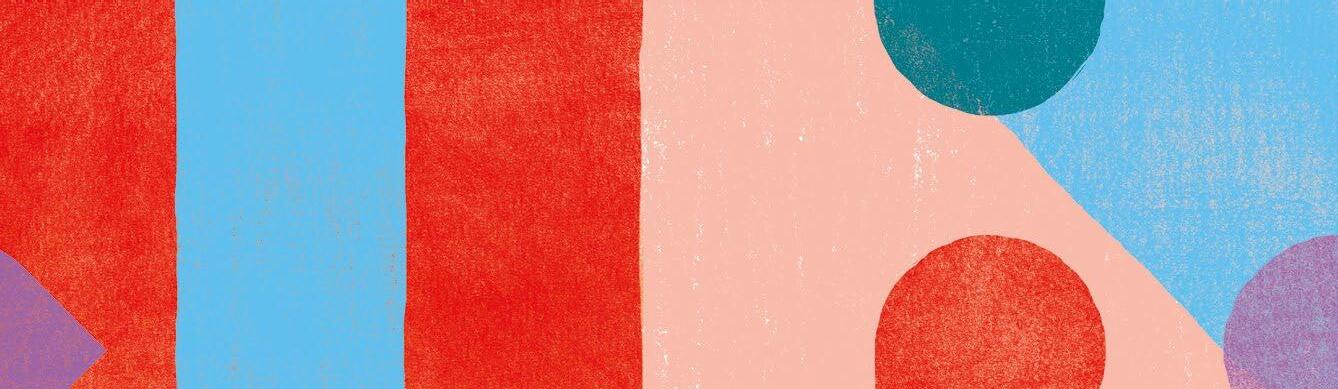
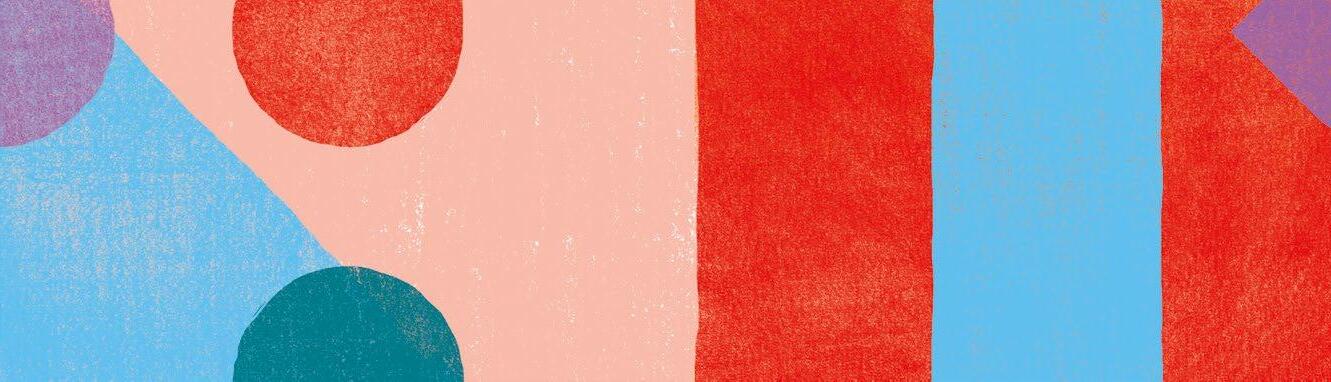


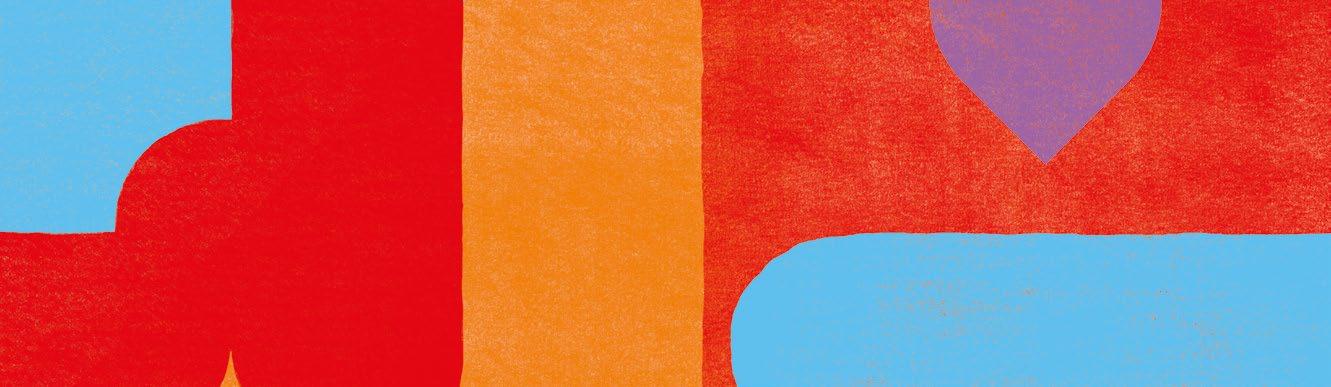
Entre rochas trituradas, moluscos fervidos e tubos de ensaio, não poupamos esforços para deixar a vida mais colorida. Haja imaginação e ciência!
Hora de um jogo: tente imaginar uma coisa mais valiosa que ouro. Pensou em um enorme diamante? Ou em um metal de nome curioso, feito paládio? Quem sabe uma substância rara, como plutônio? Em qualquer dos casos, parabéns, acertou na mosca.
Agora, se você vivesse antes do século 19, um palpite certeiro seria uma peça de roupa roxa. Isso mesmo: tecidos dessa cor eram tão caros que apenas nobres e reis os vestiam. O motivo da supervalorização estava no corante necessário para tingi-los.
Chamava-se púrpura tíria, pois vinha da cidade de Tiro, na Fenícia (atual Líbano), onde era produzido desde a Antiguidade. A matéria-prima era um caramujo (!), apanhado aos milhares e fervido durante dias. O longo, trabalhoso e fedorento processo só rendia um pouco daquela substância roxinha. Não é de espantar que fosse vendida por pequenas fortunas.
As cores nos fascinam tanto que, já em tempos remotos, nossos antepassados descobriram formas de extraí-las da natureza, triturando rochas, amassando plantas, esmagando insetos e outras criaturas, só para produzir corantes e pigmentos.
A diferença entre os dois é sutil. Corantes podem ser dissolvidos em água e são absorvidos pelo material que se quer colorir, por isso servem para tingir tecidos. Já pigmentos não podem ser dissolvidos e precisam da ajuda de um aglutinante (como gema de ovo, goma arábica ou óleo) para grudar na superfície desejada. As tintas são um exemplo de mistura de pigmento e aglutinante.
Um marco na busca por novas tonalidades veio em 1856, quando o químico inglês William Henry Perkin descobriu, por acaso, um composto que batizou de mauveína, o primeiro corante artificial do mundo. Era roxo, o que fez despencar os preços de tecidos nesse tom e salvou a vida de incontáveis caramujos.
A partir daí, a indústria avançou bastante e tornou possível fazer tintas em qualquer tonalidade – há tabelas e catálogos com centenas de opções. O que não significa que as cores perderam importância. Pelo contrário, continuamos a dar enorme significado a elas, muitas vezes até relacionando-as a emoções.
O azul é triste, o amarelo alegra. Há várias teorias sobre simbolismo e efeitos de cada tom. Mas é preciso cautela ao pensar nessas associações, pois elas mudam com o tempo. Vimos que o roxo já foi ligado à riqueza; hoje, poucos pensariam isso. A cultura também influencia: o branco era adotado por viúvas na França e ainda é a cor do luto entre alguns povos do Oriente.
A própria percepção da cor pode ser diferente entre as pessoas. O épico Odisseia, de Homero, composto por volta do século 8 a.C., narra o retorno do herói Ulisses à terra natal. Embora grande parte da história se passe no oceano, a palavra grega para “azul” simplesmente não aparece no texto – para o poeta, o mar tinha cor de vinho.
Interpretações à parte, corantes e pigmentos acompanham o ser humano desde o princípio, ajudando-o a se expressar e a deixar o mundo mais bonito. Isso, sim, vale mais que ouro. Ou que uma sopinha de caramujo.
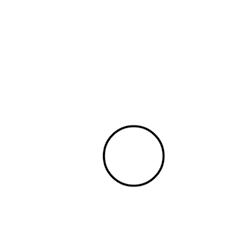
Crenças religiosas, fases marcantes da vida, status na comunidade, valorização da beleza, rituais de preparo para situações como guerras e casamentos. Ao pintar o rosto e o corpo, proclamamos nossa identidade individual ou de grupo, expressamos sentimentos e intenções momentâneos e contamos nossa história pessoal. É assim desde que a humanidade aprendeu a usar terra, plantas e pedras para colorir a pele, destacando traços naturais e reproduzindo grafismos e figuras por meio de pinturas temporárias e definitivas.

GRAFISMOS INDÍGENAS
Das sementes de urucum vem o vermelho; da argila clara, o branco. Já o tom preto que permanece na pele por uma a duas semanas vem da polpa do jenipapo misturada a carvão. Bastam três cores para produzir incontáveis grafismos que identificam culturalmente cada uma das cerca de 300 etnias indígenas do Brasil. Além de traços que indicam a função de cada integrante no grupo, há padrões para cerimônias religiosas, casamentos e guerras.
TATUAGEM JAPONESA
Os grandes desenhos que cobrem partes inteiras do corpo serviam originalmente como distinção social e proteção espiritual. Daí as figuras cheias de significados: dragões (sabedoria e poder), carpas (coragem) e serpentes (evolução espiritual). Uma das técnicas de tatuagem mais tradicionais no Japão, a tebori utiliza um pigmento à base de plantas e pedras moídas, que é aplicado com agulhas ligadas a uma haste de bambu.
CRIMES MARCADOS NA PELE
Se até hoje a tatuagem é controversa na sociedade japonesa é porque durante muitos séculos foi usada para assinalar rostos e braços de criminosos. A prática, só proibida em 1870, aconteceu pela primeira vez em 720 a.C., quando o imperador da época poupou um rebelde da pena de morte, mas o condenou a ser tatuado.
TATUAGEM MAORI
Para esse povo da Nova Zelândia, a tatuagem é uma autobiografia. Os acontecimentos mais importantes na vida são lembrados em desenhos simétricos, com grossas linhas pretas e espirais. Para fazê-los, eles primeiro cortam a pele e depois injetam a tinta. Não surpreende que quanto mais tatuado o rosto, mais corajoso e poderoso é considerado o homem maori –às mulheres só é permitido tatuar o queixo.
CULTURA DA HENA
Essa pasta de tom castanho-avermelhado é popular na Índia e em países do norte africano, como Marrocos, e Oriente Médio, caso da Turquia. Símbolo de saúde e sorte, o pigmento é extraído do arbusto hena. Entre muitos usos, a coloração serve para desenhar delicados arabescos e mandalas em mãos, no punhos, pés e tornozelos de noivas durante a Festa da Hena, um ritual que antecede a cerimônia de casamento nesses países.
CLEÓPATRA E MAOMÉ
O que a famosa rainha egípcia teria em comum com o fundador do islamismo?
A hena. Segundo historiadores, Cleópatra (69 a.C.-30 a.C.) não tinha a beleza que o cinema eternizou, porém era vaidosa e usava a planta como cosmético para cuidar da pele, dos cabelos e das unhas. Já o profeta Maomé (570 d.C.-632.) tingia a barba com hena.
MATRIZ AFRICANA
No Vale do Rio Omo, na Etiópia, vivem populações mundialmente conhecidas por sua arte corporal, na qual usam materiais tão simples quanto um calcário branco, fácil de moer, e argilas com tons que vão do ocre-claro ao amarelo-avermelhado. Muitos povos africanos têm, para cada ocasião, um tipo de pintura. Serve para embelezar, para atestar uma posição social, como rito de passagem ou ainda como conexão com forças espirituais.
MAQUIAGEM MODERNA
De um lado fica a maquiagem social, usada no dia a dia e em festas para valorizar os traços naturais. Do outro, estão as técnicas conceituais e artísticas, que causam impacto em desfiles de moda, shows e ensaios fotográficos, geram efeitos especiais (como no cinema) e caracterizam drag queens. Você sabia que, por mais que a indústria evolua, alguns corantes ainda vêm de pedras semipreciosas, como o lápis-lazúli?
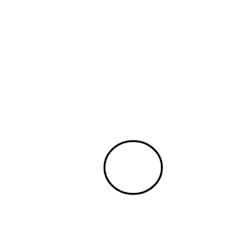

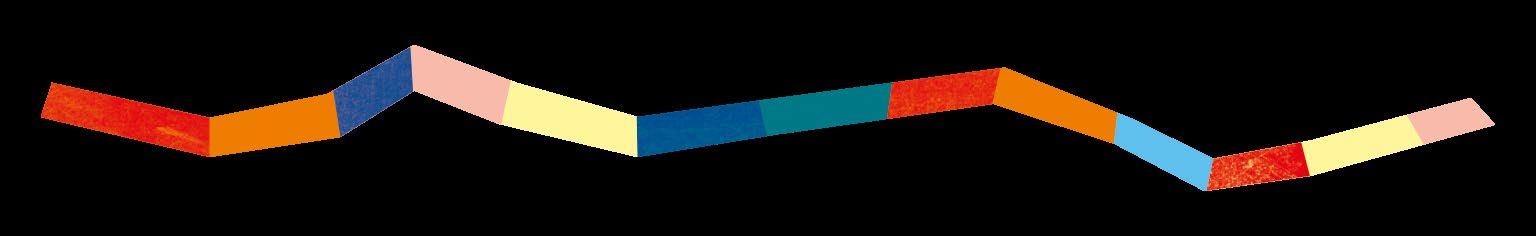
Da arte rupestre ao grafite, a pintura artística se desenvolveu com a evolução das tintas. Vamos fazer uma viagem no tempo para conferir essa história?
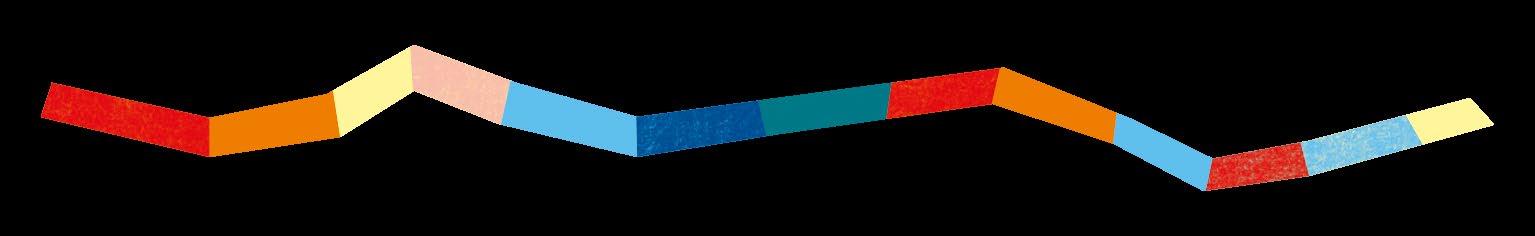
Nossa primeira parada é há 45 mil anos, quando homens e mulheres pré-históricos registravam cenas de caça em cavernas e rochas.
Para que isso fosse possível, foi necessário inventar a tinta, que é basicamente a mistura de um pigmento (pó colorido) e um aglutinante (espécie de cola que fixa a cor na superfície).
Os pigmentos pré-históricos eram a terra, o carvão e rochas moídas. O aglutinante, por sua vez, podia ser qualquer substância meio grudenta que estivesse à mão, incluindo saliva, sangue, gordura animal e até fezes de morcego.
Já no Egito antigo, por volta do século 2 a.C., os artistas a serviço dos faraós usavam seis cores (vermelho, azul, verde, amarelo, branco e preto) para decorar palácios, monumentos e tumbas. Os tons vibrantes vinham de minerais, como a pedra malaquita (verde) e o óxido de ferro (vermelho), aos quais se adicionava uma resina extraída de árvores, a goma arábica.
Ajustando nossa máquina do tempo para 1512, deparamos com o italiano Michelangelo dando as últimas pinceladas nas famosas pinturas no teto da Capela Sistina, no Vaticano. Nessa técnica chamada de afresco, o pigmento puro, diluído em água, é aplicado sobre uma parede ou teto que tenha acabado de receber uma camada de gesso, ou seja, uma superfície em que o gesso ainda está fresco – daí o nome “afresco”. Assim, as cores penetram na massa, o que garante sua durabilidade. O problema é que o artista precisa pintar rapidamente antes que a massa seque e não tem como corrigir eventuais erros.
No mesmo período, alguns pintores começaram a utilizar a gema de ovo como aglutinante de tintas usadas em telas de madeira, desenvolvendo a têmpera. Se por um lado essa técnica é melhor que o afresco por permitir correções, por outro resiste menos ao passar dos anos.
Em meados de 1600, o óleo de linhaça substituiu o ovo. As tintas ficaram brilhantes e com textura mais suave. Os quadros, consequentemente, ganharam camadas de cores, transparências e sobreposições. Muito usada sobre telas de tecido, a tinta a óleo revolucionou o mundo das artes e foi a primeira a ser vendida em bisnagas, possibilitando aos artistas impressionistas do século 19, como o francês Claude Monet, levar seus cavaletes para fora dos ateliês e pintar cenas que aconteciam à sua frente.
Já na década de 1940, em uma rápida passagem pelo México, flagramos pintores que, a exemplo de Diego Rivera, criaram grandes murais artísticos empregando um material que, até então, só tinha fins imobiliários e industriais, a tinta acrílica.
Assim chamadas porque levam resina acrílica como fixador, as colorações desse tipo foram tão aceitas no meio artístico que hoje são encontradas em várias embalagens, como bisnagas profissionais, potinhos de guache e até latas de spray.
Aliás, não fosse por esse tubo metálico – que pode ser transportado no bolso e usado para pulverizar centenas de cores em qualquer superfície –, talvez o grafite não tivesse surgido. Se bem que certamente descobriríamos outra forma de decorar os muros das cidades, assim como fizeram nossos ancestrais com as pinturas rupestres.

Há muitos jeitos de obter uma tinta natural. A receita indicada pela educadora Jéssica Rampim é criar uma aquarela com ingredientes que temos em casa, como água, café e temperos.

VOCÊ VAI PRECISAR DE:
• Água morna
• Café instantâneo em pó (o mesmo que café solúvel –1 colher de chá)
• Cúrcuma ou curry (1 colher de chá)
• Colorau ou páprica (1 colher de chá)
• Colher de sopa
• Colher de chá
• Potinhos para preparar as tintas
• Fôrma de gelo
• Pincéis
• Pote com água para limpar o pincel
• Papel grosso

1 Aqueça a água para facilitar a diluição dos pigmentos. Para fazer a tinta marrom: misture 2 colheres de sopa de água morna e 1 colher de chá de café instantâneo.

3 Para fazer a tinta laranja: misture 3 colheres de sopa de água morna e 1 colher de chá de colorau (feito de urucum) ou páprica (feita de pimentão).

5 Usando a fôrma de gelo, junte mais água ou corante às tintas e experimente pinceladas mais claras ou escuras: esse é o grande barato da aquarela! Vale misturar as três cores.

2 Para fazer a tinta amarela: misture 4 colheres de sopa de água morna e 1 colher de chá de cúrcuma (açafrão-da-terra) ou curry.

4 As tintas ficam aguadas, então funcionam melhor quando aplicadas em papéis grossos e absorventes, como papel reciclado caseiro e papel para aquarela. Evite o sulfite.

6 Cansou da brincadeira e quer continuar outro dia? É só guardar a fôrma com as tintas no congelador e lembrar de avisar a família para que ninguém use os cubinhos no suco.
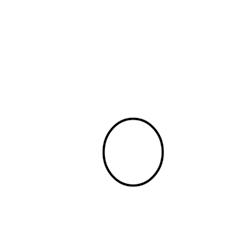

A arte de fazer pinturas permanentes no corpo se divide em antes e depois da invenção deste aparelho elétrico
1 Plugado a uma fonte de energia, o pedal é o botão de liga/desliga da maquininha. O tatuador só precisa pisar para que ela funcione e soltar o pé quando quiser parar.
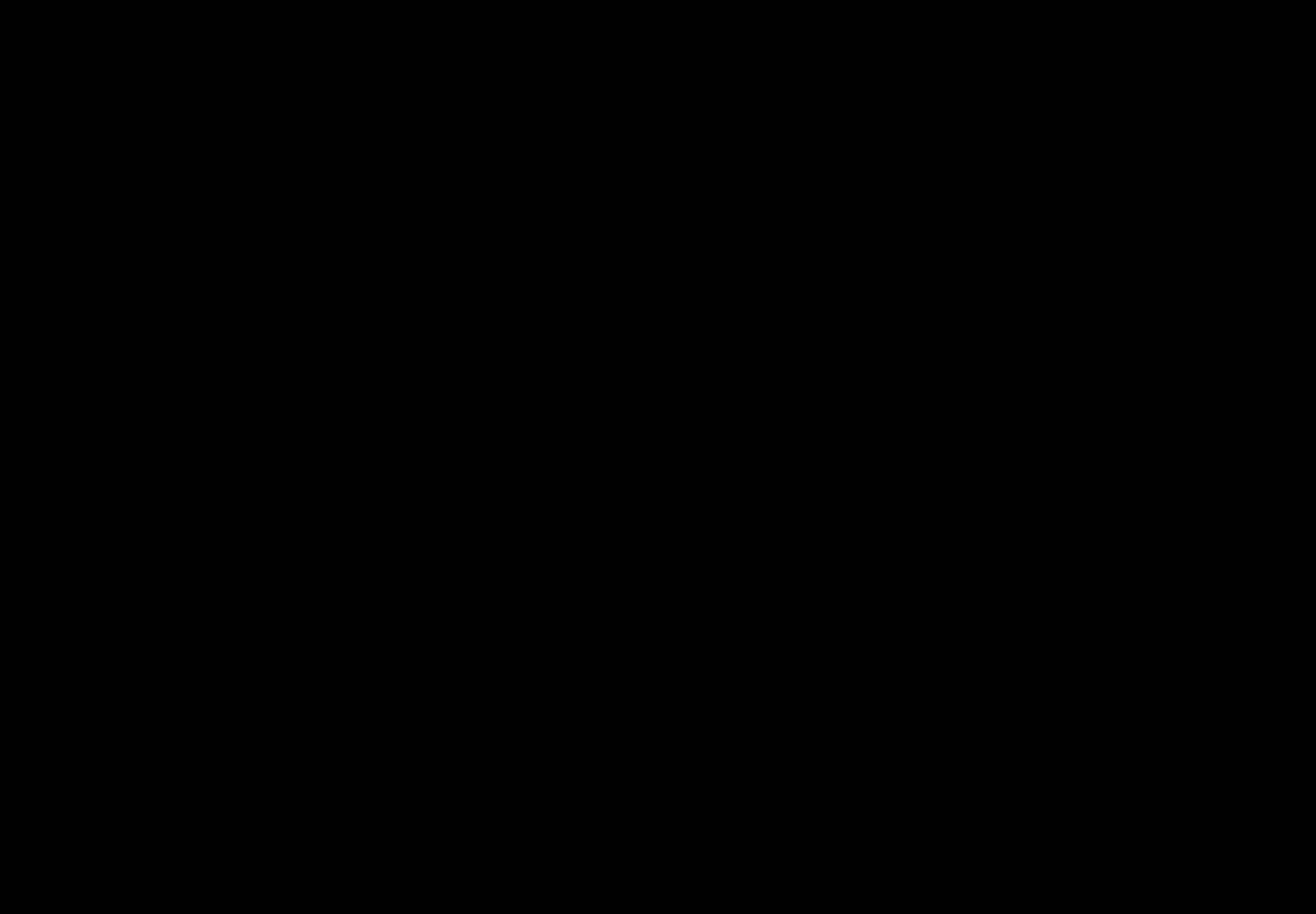
2 O que chamamos de agulha é, na verdade, uma haste com 3 a 15 (em geral) microagulhas de aço inox descartáveis. Ao fim de cada sessão, elas vão para um recipiente de lixo especial.
3 A parte onde o tatuador segura é a biqueira, acessório parecido com uma lapiseira no qual a agulha vai encaixada como se fosse o grafite.
O marco zero da história da máquina de tatuagem é o momento em que as pessoas aprenderam a marcar a pele com pigmentos de forma definitiva – usando agulhas de pedra, madeira e até ossos de animais.
Durante milênios, essa tarefa se manteve puramente artesanal, mas tudo mudou bem rápido quando o norte-americano Thomas Edison entrou nessa história.
O que o inventor da lâmpada elétrica tem a ver com a tatuagem? Muita coisa! Em 1875, Edison criou um utensílio batizado de caneta para estêncil: acoplada a um motorzinho eletromagnético, sua ponta era como uma agulha que furava o papel enquanto se escrevia. Assim, podia-se fazer um molde vazado para produzir cópias de qualquer texto desejado.
A caneta de Edison não foi um sucesso de vendas, mas inspirou outro norte-americano, o tatuador Samuel
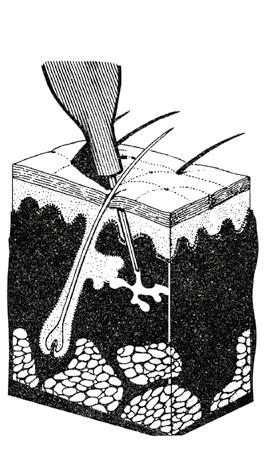
MARCAS ETERNAS
As tatuagens não saem porque a agulha penetra a pele por 1,5 mm a 2 mm. É o suficiente para o pigmento ultrapassar a camada superficial, que leva o nome de epiderme, e chegar a um nível intermediário, a derme, que não sofre desgaste nem renovação.
4 As bobinas, coração da máquina, atuam como ímãs que sobem e descem conforme o campo magnético acima delas – esse movimento cíclico ativa todo o conjunto.
5 Os pigmentos, específicos para tatuagem, são colocados em potinhos e sugados pela agulha. Para mudar de cor, é só limpar a ponta na água, como fazemos com um pincel.
O’Reilly, a desenvolver, em 1891, a primeira máquina de tatuagem. Dela evoluíram todos os modelos que conhecemos hoje, entre eles o de bobina, que é um dos mais comuns e aparece na ilustração desta página.
Uma máquina de tatuar é, basicamente, uma caneta elétrica feita para pintar a pele em profundidade, dando mais de 100 agulhadas por minuto. Controlada pelo tatuador, que a manuseia do mesmo modo que segura um lápis, ela utiliza um motor que vibra para cima e para baixo, movendo uma agulha que perfura a pele e injeta a tinta, tudo ao mesmo tempo.
Com esse equipamento, que facilita a obtenção de sombras e outros efeitos de traço e pintura, é possível criar desenhos cada vez mais detalhados. Além disso, o processo de tatuar o corpo fica mais rápido e um pouco menos doloroso (ufa!) que nos primórdios.

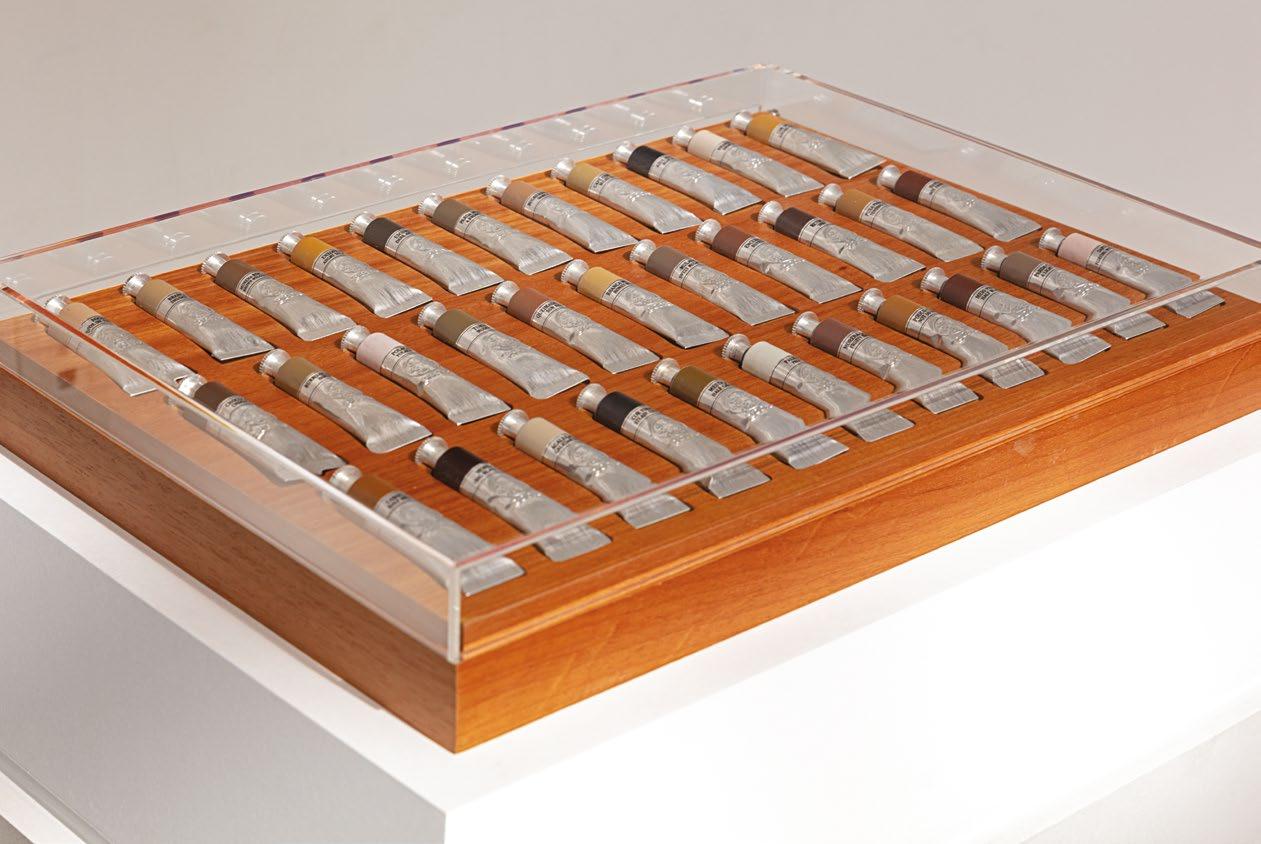
Adriana
Varejão
A inspiração veio do censo demográfico de 1976, que trouxe a pergunta aberta: “Qual é a sua cor?”. Além do óbvio, vieram respostas como “burro-quando--foge”, “morena-bem-chegada” e “fogoió”. A artista Adriana
Varejão escolheu 33 desses nomes para criar um conjunto de tintas e, com ele, produziu diversas obras que expressam os tons de pele dos brasileiros. No Sesc Guarulhos, criou o mural acrílico Cores Polvo (2013-2019), com círculos de até 51 cm de diâmetro. Batizada de Tintas Polvo (2013), a caixa de madeira com as bisnagas de tinta a óleo também pode ser vista na mesma unidade.
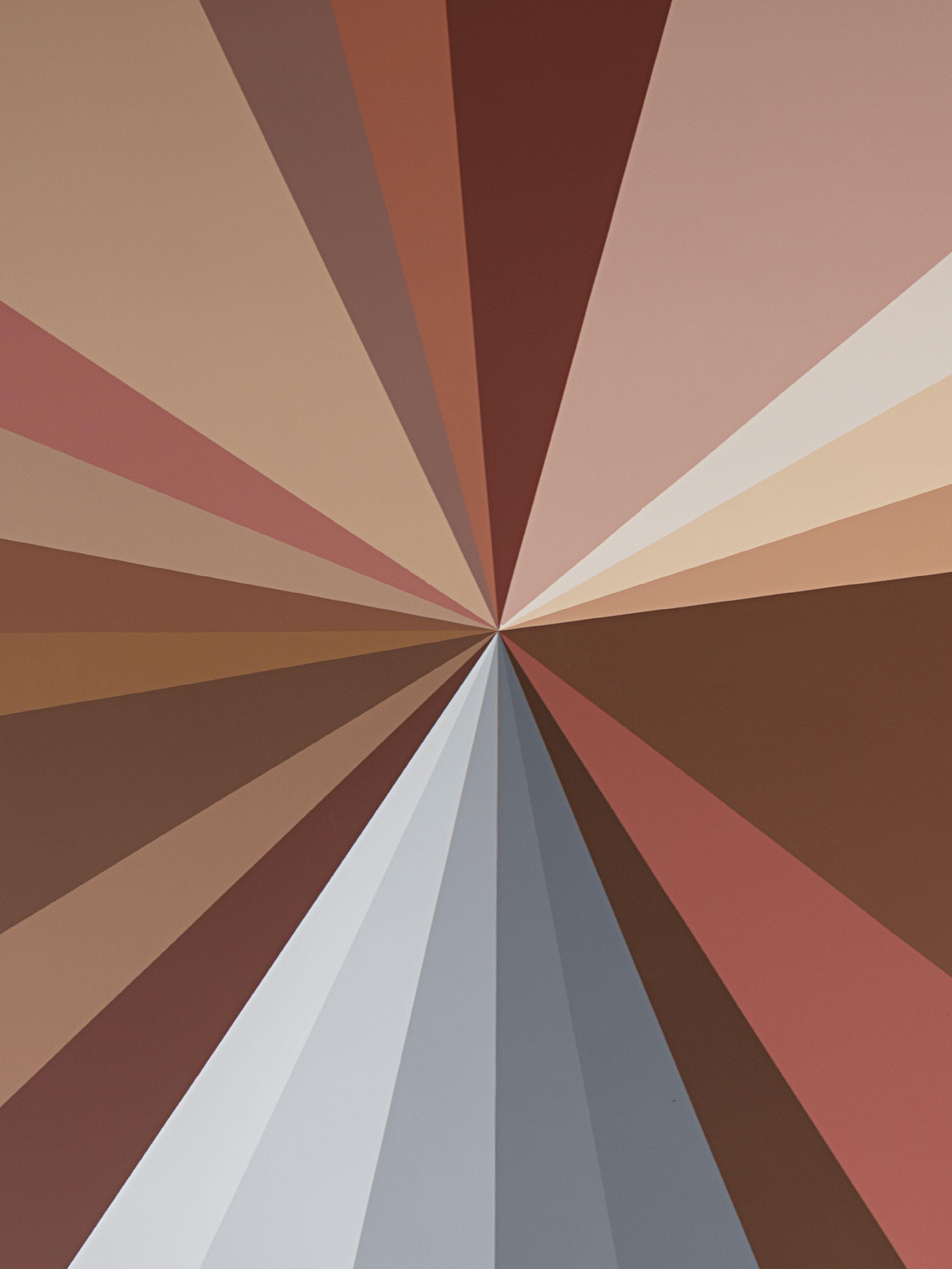

Como você percebe as cores? Como elas estão presentes na sua vida? Esta página é um espaço de autoconhecimento e investigação sobre o ambiente ao seu redor.
A caixa abaixo contém 24 instruções para você imaginar cores e usá-las para colorir o lápis do mesmo número (exemplo: instrução 1, lápis 1).
Quando terminar, sua caixa estará pronta e, se quiser, você pode até inventar nomes para as cores!
Dica: Você pode misturar cores para chegar o mais próximo possível da tonalidade em que pensou – esse é um método muito interessante de descobrir novos tons. Para esta atividade, o lápis de cor é melhor que a canetinha, pois permite muitas misturas e não marca o verso da folha.
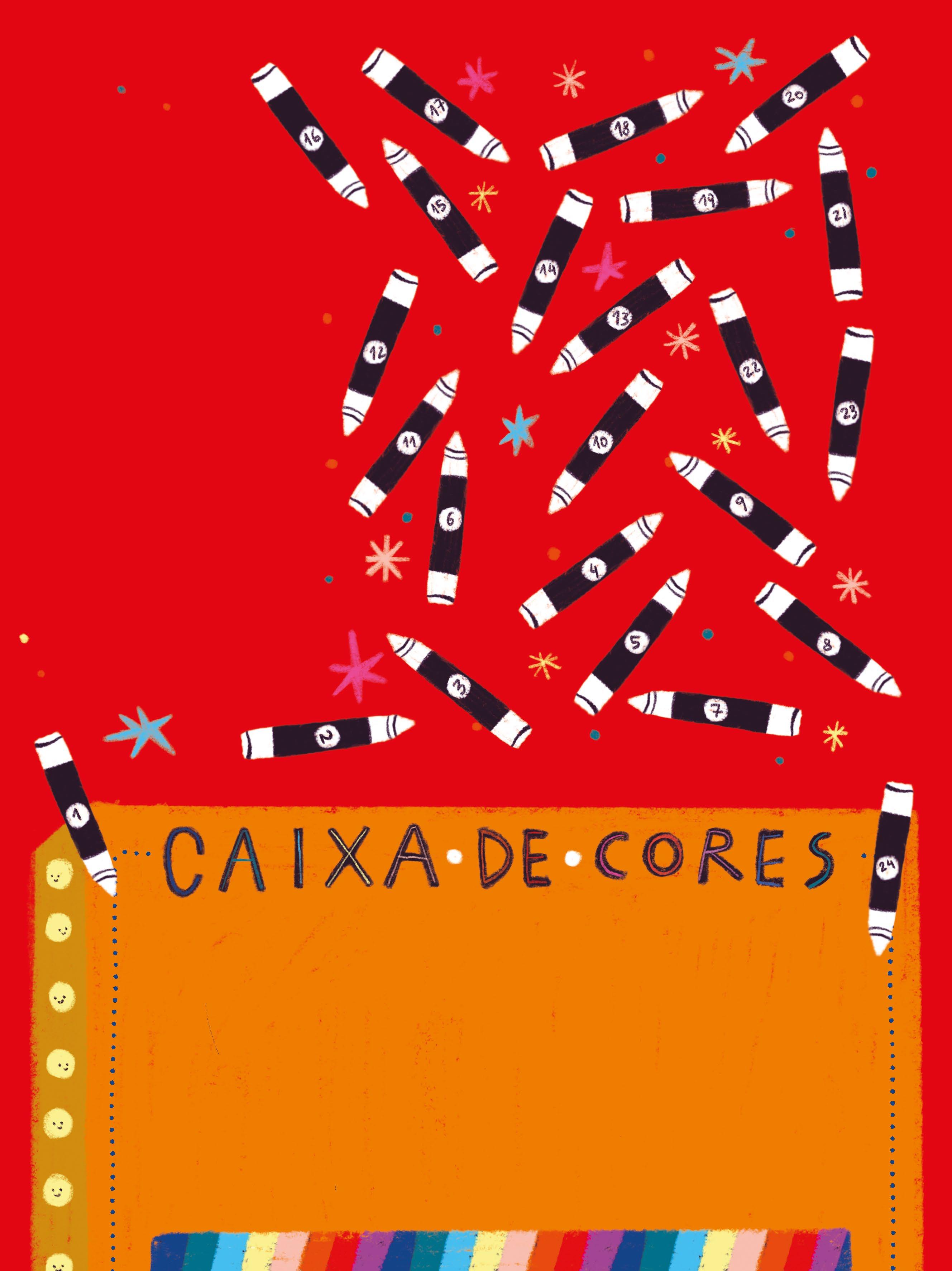
ESTA CAIXA DE LÁPIS DE COR PERTENCE A
E CONTÉM:
1 Sua cor preferida
2 A cor de um monstro legal
3 A cor de um brinquedo bacana
4 A cor de uma comida gostosa
5 A cor de um belo entardecer
6 A cor dos seus olhos
7 A cor do mar
8 A mistura de duas cores bonitas
9 Uma cor que você lembra de cor
10 A cor que mais tem na sua casa
11 Uma cor que está quase virando outra
12 A cor mais forte de todas
13 Uma cor bem estranha
14 A cor de uma coisa da sua escola
15 A cor do amor
16 A cor do céu agora
17 Uma cor que lhe dá coragem
18 A cor do medo
19 A mistura das cores do seu time de coração
20 A cor da sua pele
21 Uma cor da sua vizinhança
22 Uma cor de que você nem gosta tanto
23 Uma cor da qual você ainda não sabe o nome
24 A cor de uma lembrança feliz
Agora é hora de pintar usando as cores da caixa de lápis que você formou no exercício anterior. Como será que a sua paleta de cores vai ficar neste desenho?
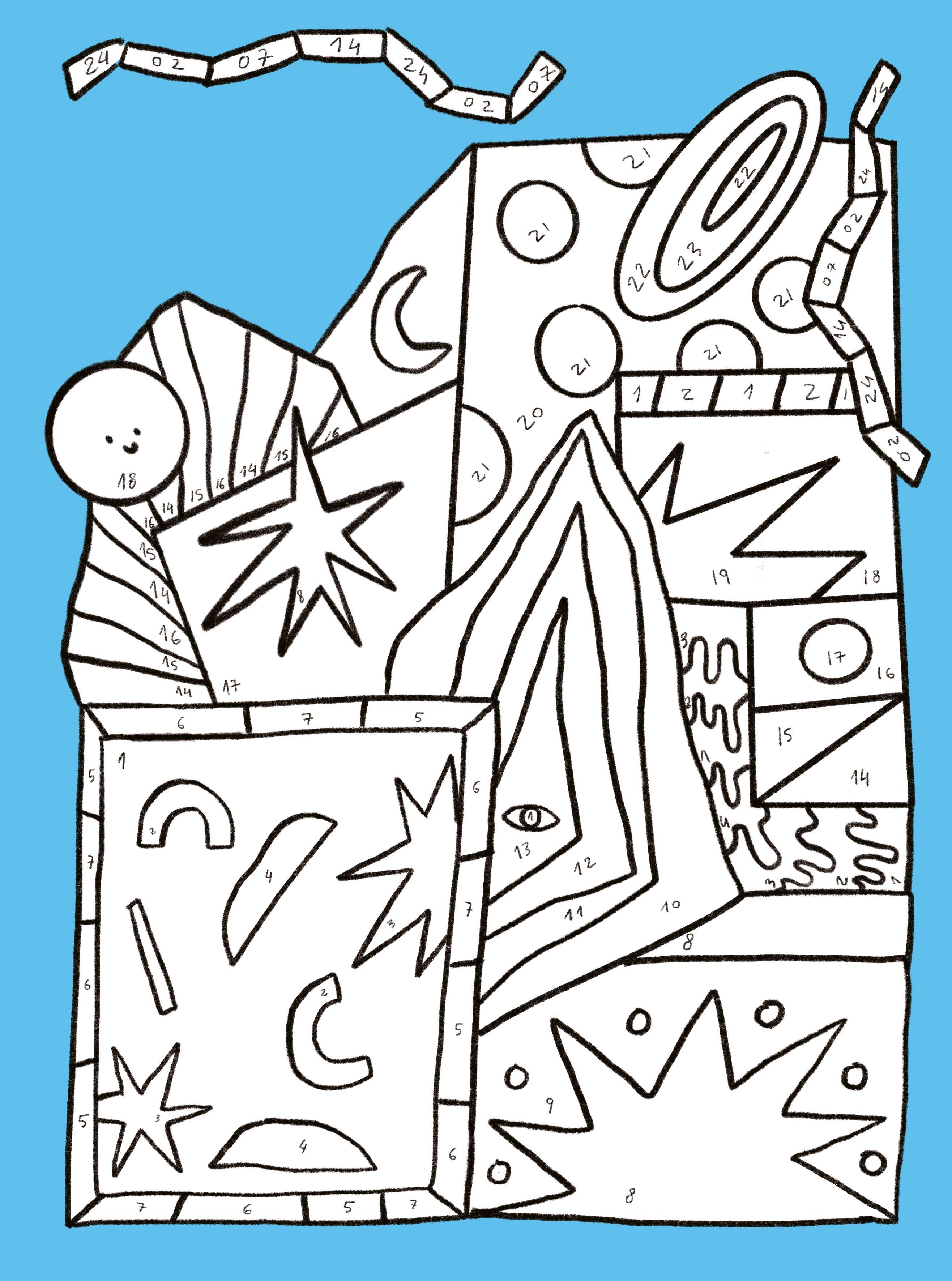
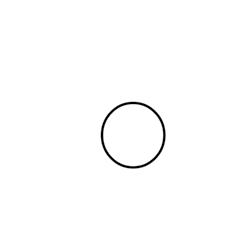
Você se lembra daqueles territórios malucos do mapa na página 44? Eles acabaram de virar países e fizeram uma encomenda muito especial para você: desenvolver uma bandeira colorida para cada um deles!
A capa de trás do Almanaque tem uma aba com faixas coloridas para você recortar. Combine-as sobre a base das bandeiras impressas aqui, brincando com contrastes e harmonias. Quando chegar a um resultado do seu gosto, é só colar as faixas na área de cada bandeira.

Já pensou em quantas cores existem? Sabia que elas são tantas que precisam de nome e sobrenome? Só de azul tem um monte: azul-royal, azul-bebê, azul-cobalto, azul-piscina, azul-marinho...
E se você inventasse uma cor que não existe? Como ela se chamaria? Já pensou que, quando você a descrevesse, outra pessoa poderia imaginar uma cor diferente?
Mas será que a gente pode mesmo imaginar uma cor que nunca viu?
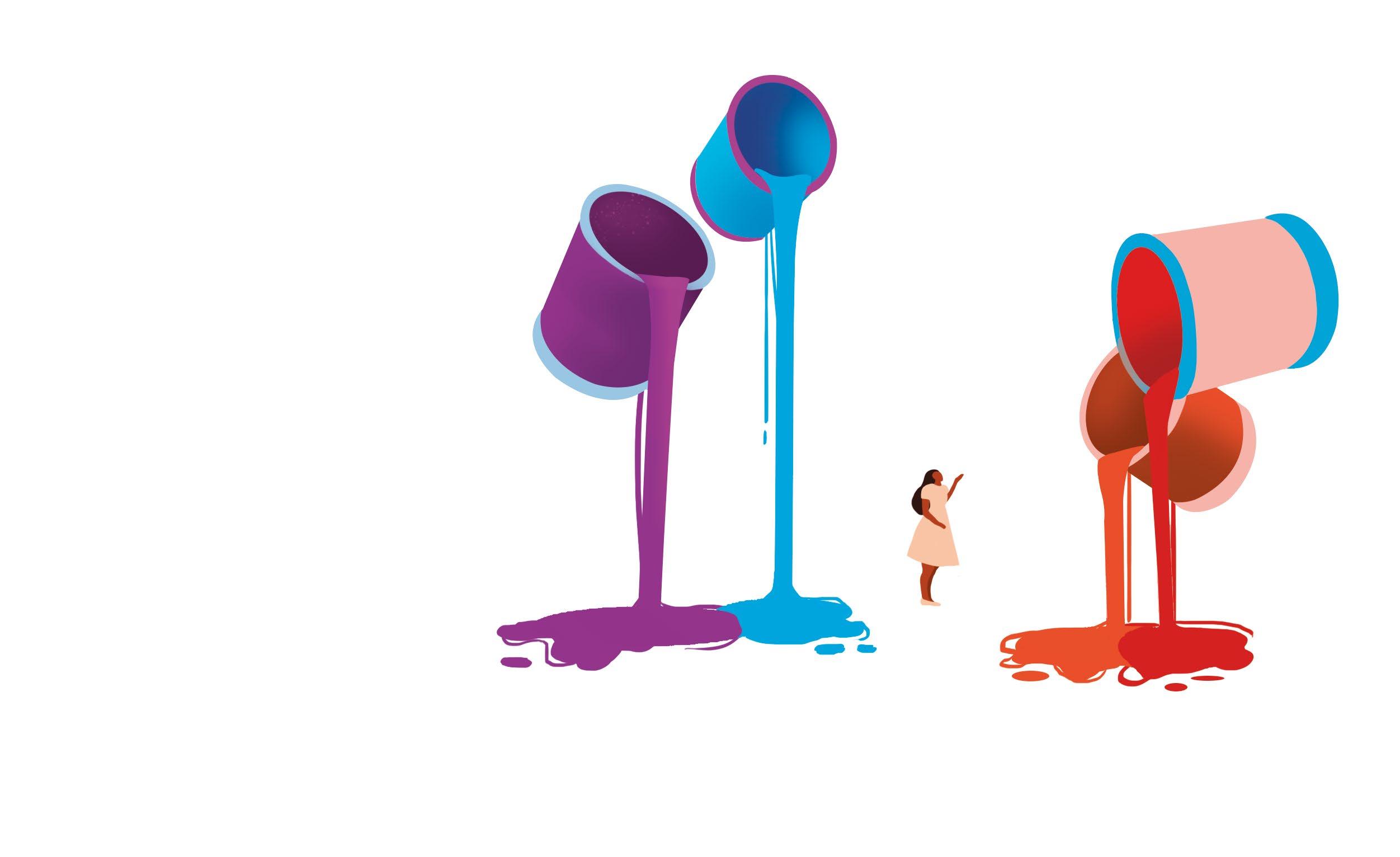
Quais são as cores ao seu redor? Que tal descobri-las por meio de um jogo? Chame um amigo ou amiga, ou alguém da sua família, e, juntos, escolham um lugar da casa ou da vizinhança.
Com lápis e papel, cada um vai listar todas as cores que estiver observando.
Marque nas etiquetas abaixo quem identificou mais cores. Como todo mundo tem direito à revanche no jogo, é possível repetir a brincadeira.
Dica: Cada cor pode ter muitas variações. A elas damos o nome de tonalidade ou tom. Faz parte do jogo descrever minuciosamente a cor.
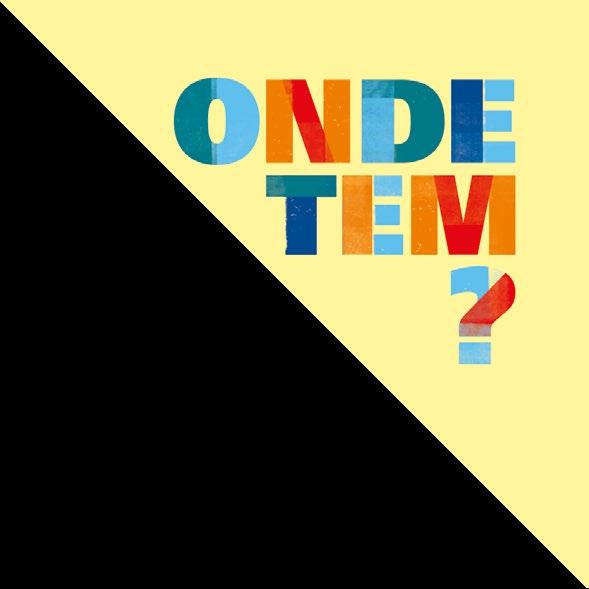









Desde que descobrimos como tirar lascas de uma rocha e manipular uma porção de barro, temos modelado o que nos cerca conforme nossa vontade
Um deus chamado Enki e sua esposa, Ninmah, criaram a humanidade. É no que acreditavam os sumérios, que viveram há milênios na Mesopotâmia, onde hoje fica o Iraque. Nos mitos gregos, essa façanha coube a Prometeu. De acordo com os israelitas, foi obra de Javé. Para os antigos chineses, a responsável foi Nüwa; para os iorubás, na África, foi Obatalá; para os incas, na América do Sul, Viracocha.
O único ponto em comum nas crenças desses povos é que o ser humano foi modelado do barro.
Pegar um material encontrado na natureza e alterá-lo conforme sua vontade, dando-lhe forma e volume, é um dos primeiros atos de criação do ser humano. Não é difícil imaginar por que foi associado ao divino.
Nossos antepassados primitivos já usavam ferramentas de pedra na Pré-História. Os modernos, por sua vez, começaram a fabricar artefatos mais sofisticados cerca de 40 mil anos atrás. Eles partiam de algo duro, como madeira, rocha ou osso, e iam cortando, com o auxílio de um instrumento (outra pedra, por exemplo), até chegar ao formato que queriam, como uma ponta de flecha para caçar ou a figura de um animal como amuleto.
Outros milhares de anos foram necessários até aprendermos que certas substâncias, como o barro, podem ser modeladas e cozidas, tornando-se rígidas e resistentes. A descoberta serviu para criar desde vasos e recipientes para guardar água e alimentos até estátuas com fins religiosos, artísticos ou celebrativos.
À medida que avançamos, novas ferramentas foram inventadas, caso do cinzel e do torno (veja na pág. 62). O domínio de mais matérias-primas, como metal e plástico, ampliou os horizontes, dando origem a variações dos métodos, como a moldagem (uso de molde para dar forma) e a extrusão (injeção de material aquecido).
A tecnologia chegou a um ponto que, hoje, há máquinas capazes de cortar e modelar sozinhas, como a CNC router (pág. 88) e a impressora 3D (pág. 64). Dizemos que fazem isso sozinhas, mas, na verdade, seguem uma receita: uma programação concebida pelo ser humano. O artesão tradicional continua tendo seu espaço, valorizado como detentor de um saber milenar.
De certo modo, a história desse saber também diz muito sobre nossa ligação com a natureza. O entalhe, por exemplo, pode sugerir uma relação baseada na força – não à toa, a técnica é chamada de subtrativa, pois retira pedaços; a modelagem, por outro lado, é aditiva, uma vez que acrescenta material.
Em todo caso, tanto a rocha quanto a argila também exercem força, no sentido oposto, ao resistir aos esforços do artesão. A chave é buscar o equilíbrio entre a vontade humana e a complexidade da natureza, rígida e maleável. É entender que há a hora certa de pressionar e alisar –afinal, cada coisa tem seu “peso, massa, volume, tamanho, tempo”, como diz a música de Arnaldo Antunes.
Só assim poderemos afirmar que, não importando quem criou este mundo, somos nós, a humanidade, quem o modela com base nos próprios conhecimentos.


8 E SMALTAÇÃO
A p ó s a p r ime ira q ue ima, c hamada de biscoito, acerâmica
e s t á p r on ta. Só que, dep endendo da funçãoqueterá
e d o v isua l q ue se pretende o bter, p o deprecisar
d e u m a e tap a de acabamento. Équandorecebe
o e s m a lte –co lor i do ou transp arente – , aplicado
háquemacoletenanatureza,pertode rios e outros Amisturadedeterminadasrochasdecompostas em águaformaaargila.Podesercomprada pronta, mas cursosd’água.Umavezrecolhida,passa várias vezesporumprocessodedecantação, em queapartesólidaseacumula nofundo dorecipiente,separando-seda parte líquida.Emseguidavêmasfiltragens, afimderemoverpedras edetritos
c o m ipnce l, ip s tola pressurizada oupormeio
c o m v á r i as câ maras i nterl i gadas ,por exempl o . Hojeexistem
7 QUEIMA
d e u m me rg u l ho no l íq u ido. Retorna, então, a o fo r no, desta vez sobtemperaturasmais
a l t a s. Ao fina l do processo, apeçaestará imp e r me áve l e com uma aparência
a s c h a ma s d a f o guei ra , outros construindofornosespeciais ,
c o n t r o l a r a t em perat ura: uns aumentand oediminuindo
b r i l han te e v itr i ficada.
c o n f o r me vári os f atores .Cad a povo quesededicou à c e r â mi ca t eve d e descobri r a sua maneirade
e m h o r a , até ch e gar ao nível máximo ,quevaria
m a i s d el i cad a , poi s segue regrasrígidas . A t e m pe r atura deve subi r aos poucos , dehora
D e t o d o o processo ,a queimaéaparte
gi r o d o b otã o d e t ermostat o . evitarasecagemmuitoacelerada
Apeçapoderiadeformar-se ou
e q u pi a m ent os elé t ricos e a gá s , em que a regulagemestáaum racharcasofosseaofogo ainda úmida . Paraqueestejaomais seca possívelantesdaqueima, ela devedescansarsobreumaprateleira forrada comjornale , detemposemtempos, ser virada . Aetapapodelevardias ou semanas, dependendodotamanhodoobjetoe das condições doclima , comotemperaturaeumidade. Em dias quentesesecos , émelhorcobri-locomplástico para
6 SECAGEM
Antes de modelar a argila, éprecisosová-lacomo se faz com a massa depão. Sãodoisosobjetivos dessa etapa: fazer comqueaáguacontidano material se espalheporiguale , acimade tudo, eliminar todasasbolhasdearque poderiam provocarrachadurasnapeça quando levadaaofogo . Énesse momento tambémque , seforo
caso, acrescenta-seocorantedesejado, amassandoatéque esteja bemmisturado .
eaoutraporfora para erguer as l at e r ai s dovaso;oupressã o com as d uas externamente para estrei t ál o . exemplo ,pressão com uma mã o por dent r o parafazeros movimentos necessári os : po r Suavantagemédeixar as mãos d o artesã o l i v r e s queosceramistas usam otorno desd e a Anti gui d a d e . porummotorelétrico .Velhasinscrições e gípci as r e v e l a m
émovidacomospé s ou ,em versões mod ernas d a má q u i n a , aumeixocentralligad o a uma rod a na part e i nferi o r . J á a r o d a
Esseequipamentonad a maisé que uma mesa que gi r a g r a ç a s
Uma vezformadoovaso,
Para criar um vaso sem usar máquina nenhuma, o jeito mais simples é formar uma bola de argila, pressioná-la no centro até restar uma cavidade e, então, fazer movimentos parecidos com os descritos à esquerda – só que usando uma mão para girar a futura peça e a outra, em pinça, para modelar. Também pode-se construir o vaso de baixo para cima: primeiro, fazendo o fundo; depois, acrescentando longos rolinhos de argila em camadas. é possíveldecorá-lodediversas maneiras.Umadelaséimprimir texturas embaixo-relevopressionando pedaços de tecidoouobjetoscomo conchas contra a superfícielevemente umedecida.Outra opçãoéoalto-relevo:basta fixar os ornamentosdesejadosusandoabarbotina, uma espéciede cremefeitodeargilaeáguaque funciona como cola
Váriosinstrumentos a j u dam na mo de lag e m, querseuseotorno ou n ão. O garrote, p o r exemplo, éum fioque corta o bloco de a r ig la, sendoútilnahora de dividir as porç ões de ma s s a edesoltarapeç a modelada da sup er f ície do to r n o . Orolo, emconjunto com um par de r ip as de ma de i r a, amassaeesticao materialatétrans formálo em ma n t a s finas. Aespátuladeixa a massa bem l isinha, enq uan to a esteca, compostade umaponta a fiada presa a um ca bo, r e t i r a pequenaslascase, assim, cria detalhes e desenhos. 4 FERRAM
5 DECORAÇÃO
Não se sabe ao certo quando a cerâmica foi inventada – os mais antigos fragmentos encontrados têm quase 18 mil anos de idade. Mas dá para imaginar que nossos ancestrais logo perceberam a utilidade de poder modelar o barro e transformá-lo em resistentes objetos. Hoje, a cerâmica está em todo lugar, de utensílios comuns a peças de foguetes espaciais. E pensar que essa história deve ter começado com algo simples, como um recipiente para recolher água. Este infográfico com as etapas de produção de um vaso ajuda a entender quão engenhosa é a técnica.
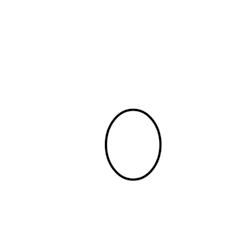

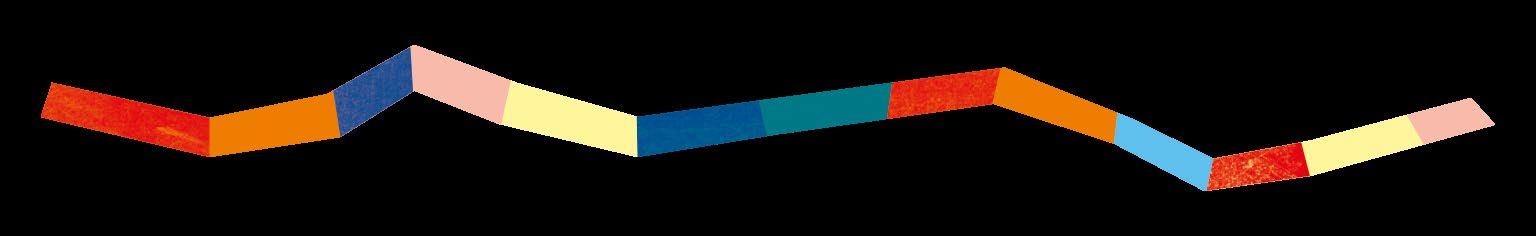
Pôr, tirar, moldar, derreter; mão, cinzel, torno, forno; barro, pedra, gesso, metal – e muito mais. A escultura é uma expressão artística abrangente
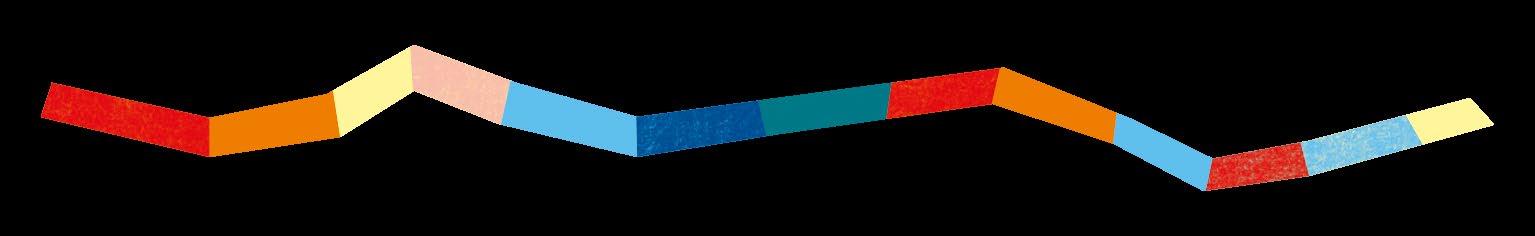
O que você imagina quando alguém fala em escultura: uma famosa estátua de mármore em exposição no museu? Uma carranca de madeira à venda na feira de artesanato? Um singelo boneco de argila? Um busto de metal retratando a pessoa que dá nome à praça? No mundo da arte, todos esses exemplos podem, sim, ser chamados de escultura, embora cada um se encaixe em uma categoria. Antes de ver o que eles têm em comum, vamos entender o que têm de diferente.
Quando investigamos de onde veio o nome em si, encontramos a palavra “sculpere”, que em latim quer dizer “entalhar”. Ou seja, o significado original de escultura se refere à técnica de bater com uma ferramenta pontuda (as mais comuns são o cinzel e o formão) em um bloco de material duro (como madeira, pedra ou marfim), retirando pedaços até chegar à forma desejada.
Foi assim que, entre a segunda metade do século 18 e o início do 19, Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, criou os 12 profetas bíblicos esculpidos em pedra-sabão. Trabalhou também com madeira entalhada para representar momentos da Paixão de Cristo. Sem contar tantas outras obras exibidas em cidades como Congonhas (MG).
E se, ao invés de tirar, o artesão adicionar material? Nesse caso, entram em cena as substâncias moles e maleáveis, como argila, gesso, cera e papel machê, que são trabalhadas manualmente ou com a ajuda de ferramentas (como espátulas e torno), em uma técnica chamada modelagem (a mesma vista nas págs. 60 e 61) Ela pode ser empregada para fazer desde miniaturas até peças grandiosas.
É o caso do exército formado por milhares (!) de figuras em tamanho natural, incluindo soldados, oficiais e cavalos, todas criadas em terracota (argila cozida) e encontradas por arqueólogos junto à tumba do primeiro imperador da China, morto em 209 a.C. Apesar de feitas de um material que se quebra facilmente, as peças sobreviveram e narram uma história de mais de dois milênios. Uma parte dessa coleção foi apresentada em 2003 em São Paulo, onde ficou conhecida como Os Guerreiros de Xi’an.
Já para produzir esculturas de metal, é preciso utilizar moldes, o que dá à técnica o nome de moldagem. Uma das formas de executá-la funciona assim: uma matriz é modelada em cera e envolvida em gesso; quando este seca, a matriz vai ao forno, onde o calor derrete a cera, deixando um espaço vazio, o qual serve como molde. Ele é então preenchido com metal (geralmente, bronze) que foi aquecido até ficar líquido; ao esfriar e endurecer, o objeto está pronto.
Esse método, conhecido como cera perdida, foi o favorito do francês Auguste Rodin, que o utilizou em algumas versões de sua mais famosa obra, O Pensador (1904), a estátua de um homem sentado, perdido em pensamentos, com uma das mãos encostada no queixo.
Nem esgotamos todas as possibilidades e já temos aqui uma enorme variedade. Por que tantas técnicas diferentes são resumidas como escultura? Porque todas se valem das mãos (total ou parcialmente) para transformar um material em objeto artístico tridimensional. É uma definição ampla, que só tem como limites a habilidade do artista e aquilo que ele é capaz de imaginar.
Agora que o universo da escultura (pág. 62) já é seu conhecido, que tal experimentar duas técnicas aproveitando ideias propostas pela educadora Laura Andreato?


VOCÊ VAI PRECISAR DE:
• Barra de sabonete
• Caneta
• Lápis
• Faca sem ponta
• Palito de churrasco
• Pote com água
• Esponja ou pano
• Plástico para forrar a mesa

VOCÊ VAI PRECISAR DE:
• 2 xícaras (chá) de farinha de trigo
• 1/3 de xícara (chá) de sal
• 1 xícara (chá) de água
• 1 colher (sopa) de óleo
• 1 colher (sopa) de vinagre
• Corante alimentício líquido (cores diversas)
• Palito de churrasco
• Vasilha
ENTALHE (TÉCNICA SUBTRATIVA)

1 Use a caneta para traçar no sabonete um contorno qualquer ou o desenho de um objeto que você tenha vontade de esculpir.

3 Utilize a ponta do palito de churrasco (ou do lápis) para fazer sulcos, criando os detalhes do objeto.
MODELAGEM (TÉCNICA ADITIVA)

1 Misture os ingredientes (menos o corante) até a massa ficar homogênea. Separe bolinhas de massa: em cada uma, faça um buraco, pingue o corante e misture para a cor se espalhar.
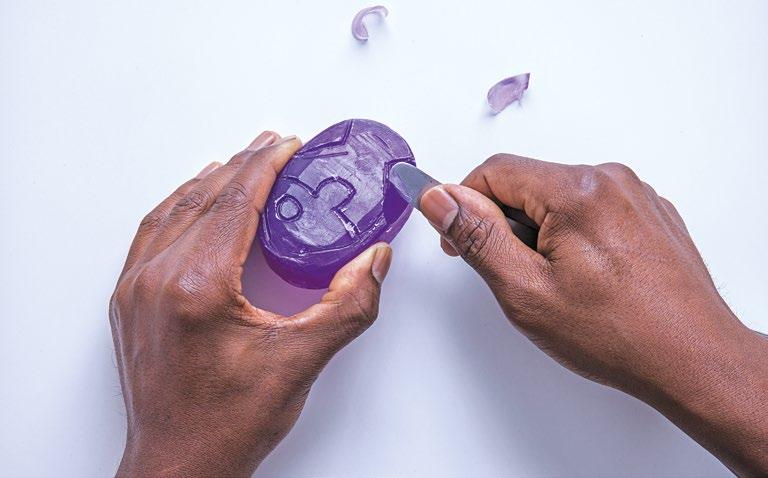
2 Com a faca, vá retirando lascas finas em busca do formato desejado. Tome cuidado para não extrair pedaços grandes de uma única vez.

4 Para dar acabamento à escultura, alise delicadamente a superfície com esponja ou pano umedecido. Que objeto saiu de dentro do seu sabonete?

2 Modele a massa com as mãos para fazer as figuras que vierem à sua mente. Você pode criar os detalhes usando a ponta do palito e pedacinhos de massa de outras cores.
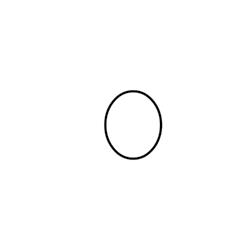

Em alguns minutos ou dias, ela produz peças tridimensionais que vão de um pequeno objeto decorativo a carrocerias de carros e próteses que substituem ossos
1 O processador é o cérebro da impressora: é ele quem lê a receita. Pode ser conectado ao computador ou receber as instruções por cartão de memória.
2 Uma bobina de filamento plástico alimenta a impressora. Um dos mais comuns é o ABS, também usado em brinquedos, celulares e até peças de automóveis.
DENTRO DA CAIXA
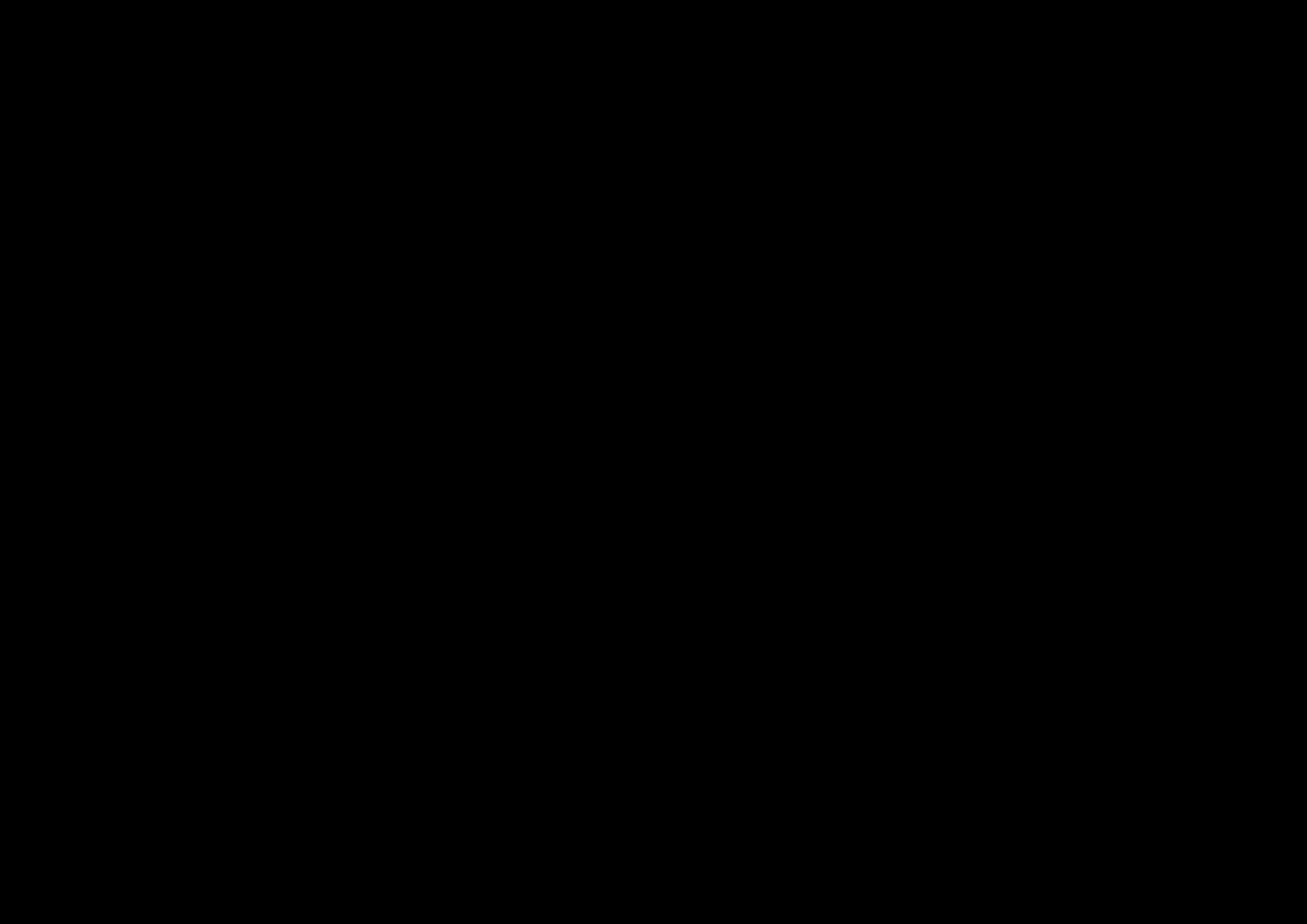
Você já imaginou dar um comando no computador e, um tempo depois, tirar uma escultura de chocolate de dentro da impressora? Alguns fabricantes desse doce já adotaram a impressão tridimensional para moldar guloseimas com formas cada vez mais surpreendentes.
Guardadas as devidas diferenças, eles utilizam uma impressora que é basicamente a mesma desenvolvida nos anos 1980 com a função de baratear e tornar mais rápida a fabricação de protótipos variados para a indústria (protótipo é o nome dado ao rascunho de um produto em fase de testes). Hoje, essa tecnologia tem uma série de outras aplicações, com destaque para a área médica, onde serve para construir braços e pernas artificiais.
A impressão tridimensional resulta da sobreposição de finas camadas de algum material. O plástico, de diversos tipos, predomina, mas também são empregados fibra de carbono, metal, papel reciclado e chocolate, como já falamos. Há até impressoras que usam concreto para imprimir casas!
Como a temperatura é importante no processo, há impressoras cujo mecanismo funciona em uma estrutura fechada.
3 O fio que entra na cabeça de impressão é puxado, aquecido e depositado pelo bico injetor. Aparelhos mais avançados possuem cabeças duplas, triplas ou quádruplas, que possibilitam imprimir em diferentes cores e materiais.
4 Os eixos motorizados fazem o mecanismo se mover em três direções: para a esquerda e a direita; para a frente e para trás; para cima e para baixo.
5 Algumas impressoras contam com bandeja aquecida, que facilita a aderência do objeto enquanto ele é impresso.
Entre os métodos de impressão 3D, o mais comum é o FDM, sigla em inglês para modelagem por fusão e deposição. O nome complicado identifica um processo simples: um fio de plástico é aquecido e, bem molinho, passa por um bico que o injeta sobre a bandeja da impressora. Assim formam-se a primeira e todas as demais camadas do futuro objeto.
Para saber onde uma camada termina e a outra começa, o equipamento segue uma receita: um modelo tridimensional do objeto é criado no computador e colocado em um software conhecido como fatiador. O programa estuda cada fatia do modelo (seu contorno, medidas e recheio) e transfere essas informações para a impressora. Dependendo do tamanho e da complexidade da peça, em minutos, horas ou dias ela fica pronta.
Se for um vaso como o das págs. 60 e 61, provavelmente o formato ficará ainda mais perfeito, mas dificilmente o equipamento conseguirá igualar a textura e a cor do barro moldado, queimado e pintado de modo artesanal.
Eduardo Frota
Quem percorre o Sesc Guarulhos depara com uma dupla de carretéis gigantes. Um dos objetivos do escultor Eduardo Frota (Fortaleza/CE,1959) ao
idealizar esta obra sem título, feita em 2019, foi justamente provocar questionamentos sobre os objetos de arte e sua relação com o espaço em que estão. Medindo 6 x 5 m, com 6 m de altura, as peças são feitas de aço-carbono calandrado, o que significa que a chapa metálica foi curvada até formar um tubo flexível e resistente.


Tudo ocupa um espaço: de coisas a pessoas, de plantas a animais, de lagoas a montanhas, cada um com seu formato, tamanho e volume. Pensando nisso, você está convidado a observar atentamente o que existe na sua casa e a formar um museu de objetos variados, que vai ser útil às atividades a seguir.
Na sua seleção, tente reunir uma coleção que tenha pelo menos um objeto:
• Que abre e fecha
• Que pode mudar de forma
• Que tem transparência
• Quebrado
• Com várias partes
• Oco
• Com tampa
• Que pode ser dobrado
• Comprido
• Arredondado
• Com pés
• De que você não sabe o nome
• Que você não sabe para o que serve
Acervo montado, desafio cumprido!
Ao olhar para itens tão diferentes entre si, o que chama mais a sua atenção?
É o formato de cada um deles?
O tamanho? A cor? Se você tivesse de dar um nome ao seu museu, qual seria?
Se você já foi a um museu, deve ter percebido que os itens expostos sempre revelam algum tipo de organização. Podem ser reunidos por autor, técnica, material, assunto, tamanho, período histórico, movimento artístico e vários outros critérios. Mesmo que dois temas sejam apresentados em uma mesma sala, cada um ocupa um espaço ali dentro.
Como você organizaria os objetos da sua coleção? Quais são as relações entre eles que podem servir de tema para as salas de exibição?
As possibilidades são muitas, então, experimente e monte a sua própria exposição!
Ah, lembre-se de perguntar aos donos se você pode pegar coisas que não sejam suas.
Você sabia que é possível fazer arte usando objetos que estão por aí? O capítulo Remix (pág. 82) é todo dedicado a esse assunto, mas você pode ter um gostinho dele aqui mesmo, combinando itens do seu acervo para criar esculturas. Ao juntar peças, repare como os formatos de algumas delas combinam melhor e como ficam o tamanho e o volume dos conjuntos. Deixamos três sugestões para ajudá-lo:
1. Uma escultura com alguns objetos empilhados equilibrando-se uns nos outros.
2. Uma obra de arte em que peças são enfileiradas para formar um caminho.
3. Uma obra com todos os itens encaixados uns nos outros.

Para fazer uma escultura, papel e criatividade podem ser suficientes. Então, vamos lá! Recorte as tiras tracejadas na página ao lado e descubra o que você é capaz de inventar com esse material. Vale dobrar, curvar, torcer e até encaixar as tiras entre si, organizando-as sobre uma base retangular de papel (veja um exemplo na foto ao lado). Que formas você consegue criar? Como as partes da escultura se relacionam? Você enxerga formas diferentes nos espaços vazios?
Experimente construir:
• A Cidade dos Mosquitos Confusos.
• O Labirinto das Formigas que Vão e Vêm.
• A Torre dos Pequenos Besouros Escondidos.
Após terminar a brincadeira, se quiser, cole as peças construídas na base e deixe a sua escultura exposta sobre um móvel da casa ou no seu Museu das Coisas.
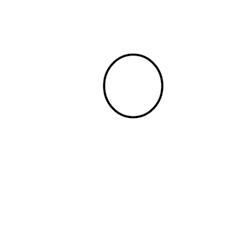

Já pensou que as formas e dimensões dos objetos, móveis e construções são como são por causa do tamanho do nosso corpo?
Como seriam os talheres se nossos dedos fossem mais compridos? Qual seria o formato de um sofá se as pessoas tivessem asas? Qual seria a altura das portas se tivéssemos chifres?
E como seria uma bicicleta para pessoas com quatro pernas?

Observe as palavras em relevo e a sombra no plano. Você consegue identificar outras palavras nas sombras projetadas?
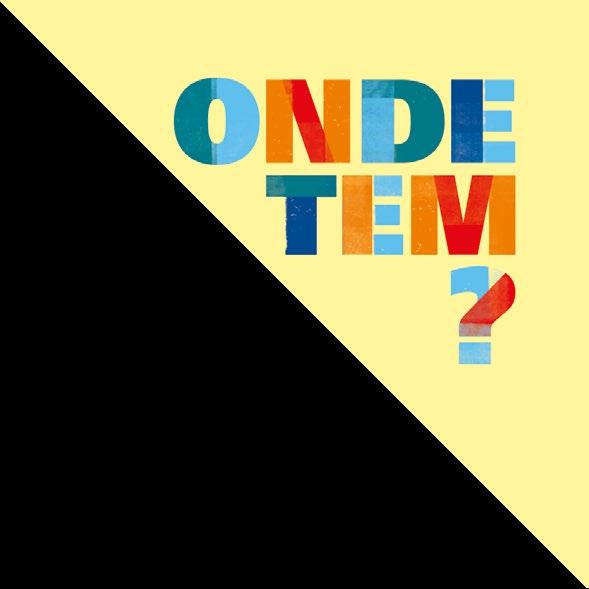
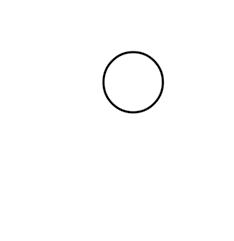
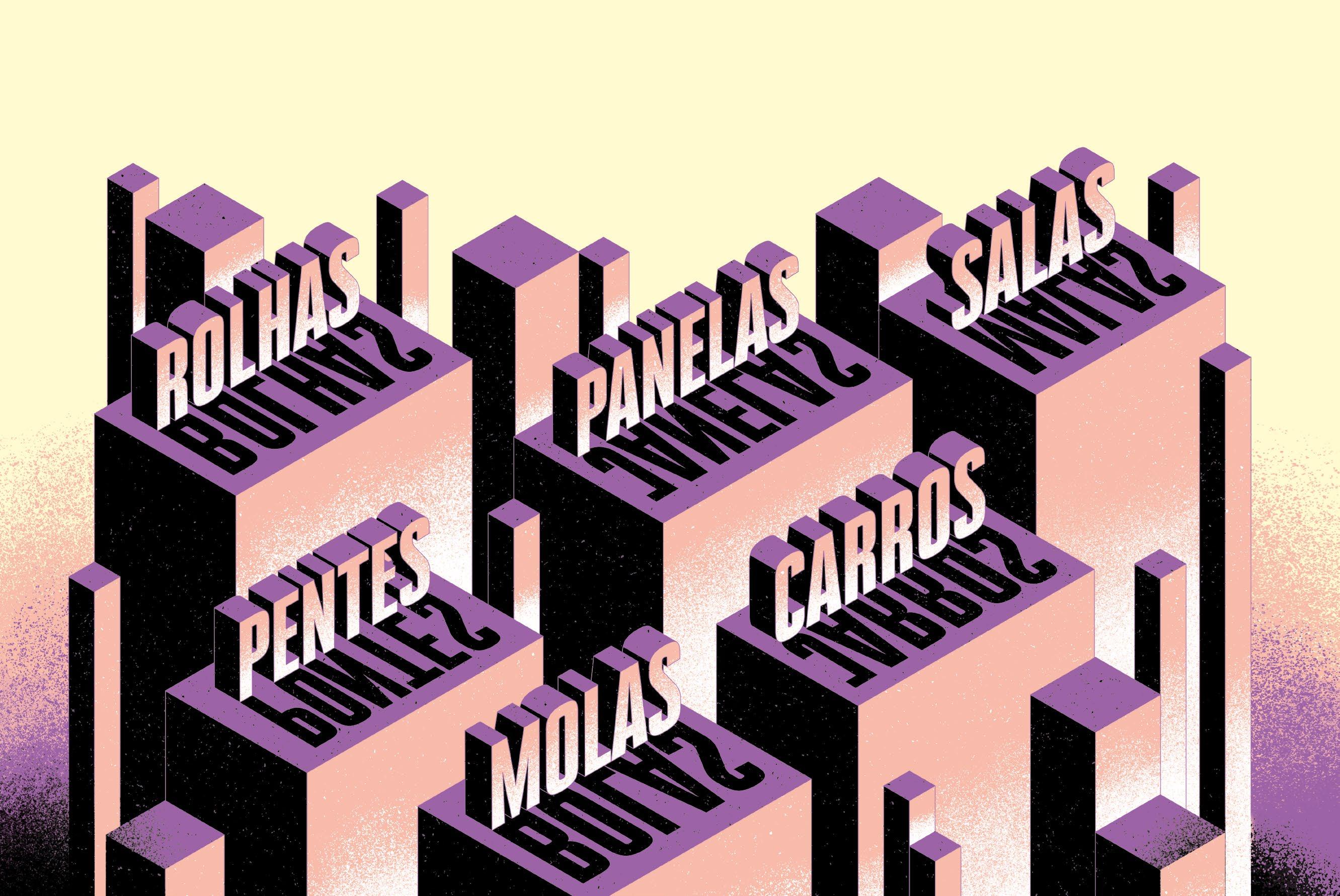


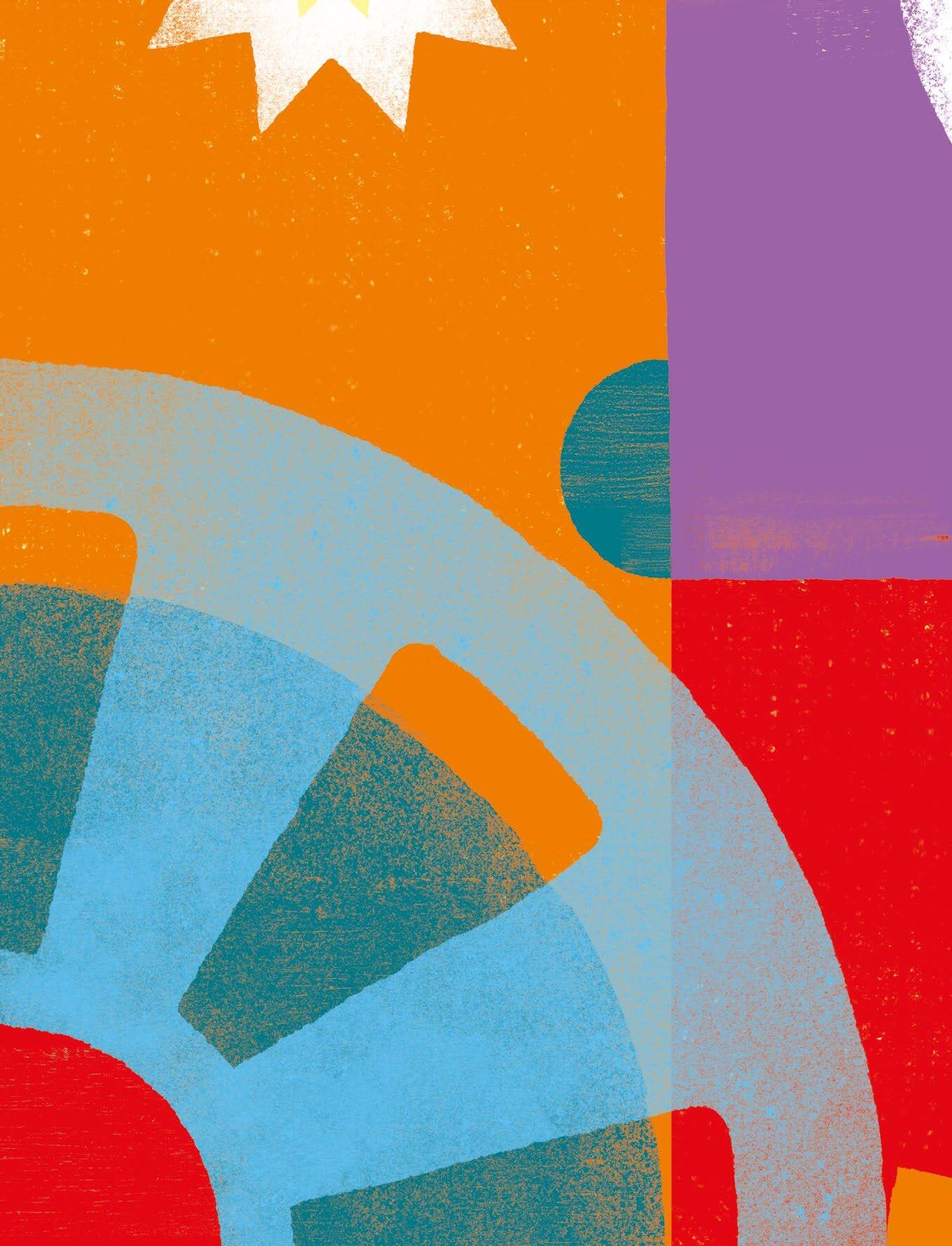

Do pensamento à ação, a humanidade levou uns bons milênios para entender o movimento e para descobrir como registrá-lo
Eis um pedido impossível de atender: fique parado. Você pode pensar que é capaz de fazê-lo, mas seus globos oculares estão se mexendo, seguindo estas linhas de texto, bem como seu peito, conforme os pulmões se enchem de ar. Mesmo que feche os olhos e prenda a respiração, você está em um planeta que gira em torno do próprio eixo e ao redor do Sol. Ainda que ignore o universo inteiro por um instante, você continua se movendo, avançando no tempo. Pois se tem uma coisa que não para é o relógio. E ele nos leva junto.
A ciência estuda essas questões desde a Antiguidade, quando os gregos (sempre eles!) passaram a observar o comportamento das coisas terrestres e dos astros. No século 17, o inglês Isaac Newton formulou as clássicas leis da Física sobre movimento e gravidade. Já na era moderna, em 1915 o alemão Albert Einstein publicou a Teoria da Relatividade, que analisou a ligação entre espaço e tempo.
Os artistas também voltaram sua atenção para o movimento e tiveram a percepção de mostrá-lo como uma sequência de acontecimentos. Um vaso confeccionado por volta do ano 3000 a.C., encontrado na região do Irã, traz uma série de desenhos de uma cabra pulando, alcançando e então devorando as folhas de uma planta.
Na busca por retratar cada vez mais fielmente o mundo ao redor, a fotografia foi um marco importantíssimo
(veja na pág. 74). Para desenvolvê-la, a inspiração acabou vindo da ferramenta original – os olhos, máquina maravilhosa do corpo humano, cujo funcionamento é copiado até pelos modelos mais primitivos de câmera.
Ao controlar a entrada de luz na máquina, o diafragma atua como a pupila, dosando a quantidade de luz que entra. As lentes, que focalizam o objeto, têm função similar à da córnea e do cristalino. O filme (ou o sensor, na versão digital), que recebe a imagem, corresponde à retina. Por fim, o papel (ou a tela), onde o resultado final se forma, é como a região do cérebro chamada córtex, em que a imagem invertida se corrige.
No século 19, já se sabia que a combinação da ilusão de óptica e do efeito de luz cria a percepção do movimento por meio de uma sucessão de imagens paradas, e havia um bocado de engenhocas que exploravam essa simulação (aprenda a fazer uma na pág. 75). Porém, também nessa área foi a fotografia quem deu o empurrão que faltava. Ela serviu como inspiração e fonte de pesquisa para os inventores responsáveis pelas inovações técnicas que resultaram no desenvolvimento do cinema (pág. 74)
Embora hoje quase tudo seja computadorizado, a captação e a reprodução de imagens em movimento ainda seguem os princípios descobertos lá atrás. E não é difícil imaginar que surjam outras tecnologias ainda mais surpreendentes em alguns anos. Pois, para o nosso impulso criativo, também é impossível ficar parado.
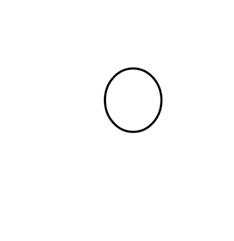
zootrópio praxinoscópio
1867-1877: DESENHOS ANIMADOS
Um dos brinquedos mais conhecidos a usar o efeito estroboscópico foi o zootrópio. Inventado pelo norte-americano William Lincoln, em 1867, consistia em um tambor giratório, com fendas verticais por toda a volta; dentro dele, uma tira com desenhos sequenciais simulava o movimento quando o aparelho rodava. O mecanismo vendeu muito nos EUA e na Inglaterra, até dar lugar ao praxinoscópio, dez anos depois. Essa versão, criada pelo francês Charles-Émile Reynaud, melhorava o jeito de visualizar as imagens, pois tinha um cilindro com espelhos dentro do tambor.
estudo de movimento de Muybridge
1878: UM PASSO DE CADA VEZ
Chamado para resolver uma aposta (sobre o cavalo tirar ou não as quatro patas do chão, ao mesmo tempo, durante o galope), o inglês Eadweard Muybridge colocou câmeras ao longo da pista de corrida, cada uma com o disparador ligado a um fio, que era puxado quando o animal passava. As fotos rodaram o mundo e viraram referência para estudiosos. Muybridge continuou os experimentos, registrando o movimento de outros animais e do ser humano. Criou ainda o zoopraxiscópio: similar ao zootrópio e ao praxinoscópio, era um disco de vidro que projetava as imagens pintadas em sua borda quando posto diante da luz.
Agora você vê, agora não vê mais! O refrão dos ilusionistas ajuda a explicar outro truque, o dos brinquedos ópticos. Quando imagens paradas, diferentes entre si, passam em velocidade constante, a gente tem a impressão de estar vendo uma única imagem em movimento. Essa peça que o cérebro nos prega, ajudado pela variação entre presença e ausência de luz, se chama efeito estroboscópico. Já era explorado como diversão no século 19, por meio de engenhocas populares na época – isso até a chegada do cinema, quase no século 20. Mas o desenvolvimento da novidade só foi possível graças ao trabalho de inventores que, nesse meio-tempo, criaram ilusões cada vez mais realistas.
c i nematógrafo
cronofotográfico
1882: TUDO AO MESMO TEMPO
O trabalho de Muybridge influenciou o francês Étienne-Jules Marey – eles até trocaram cartas e se encontraram pessoalmente. Em uma tentativa de aprimorar o que o inglês havia feito até então, Marey pensou: “E se em vez de várias câmeras fosse possível utilizar uma só?”. Assim chegou ao fuzil cronofotográfico, uma “arma” que, no lugar de tiros, disparava fotos, 12 por segundo. Elas eram reveladas todas no mesmo papel, criando impressionantes registros de animais, como aves em pleno voo e um gato caindo de pé.
1891: AS IMAGENS EM AÇÃO
Na cola das experiências de Muybridge e Marey, o norte-americano
Thomas Edison desenvolveu o cinetógrafo, que usava o recém-criado filme de celuloide para tirar várias fotos por segundo, e o cinetoscópio, que as exibia. Funcionava assim: um sistema elétrico rodava o filme e o fazia passar por uma lâmpada; o espectador então olhava por uma lente em cima do aparelho e via as imagens em movimento. Edison até abriu um estúdio, o Black Maria, onde filmava seus curtas-metragens. Teve algum sucesso, mas acabou superado pelos irmãos Lumière e seu cinematógrafo (veja na pág. 76)
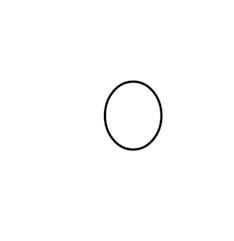
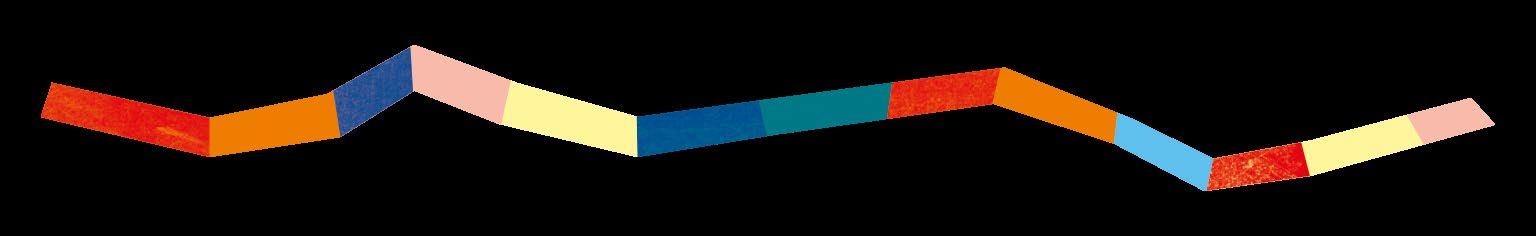
Esse é o significado da palavra fotografia –e apenas um dos muitos detalhes fascinantes na história da técnica que nasceu dentro de uma caixa
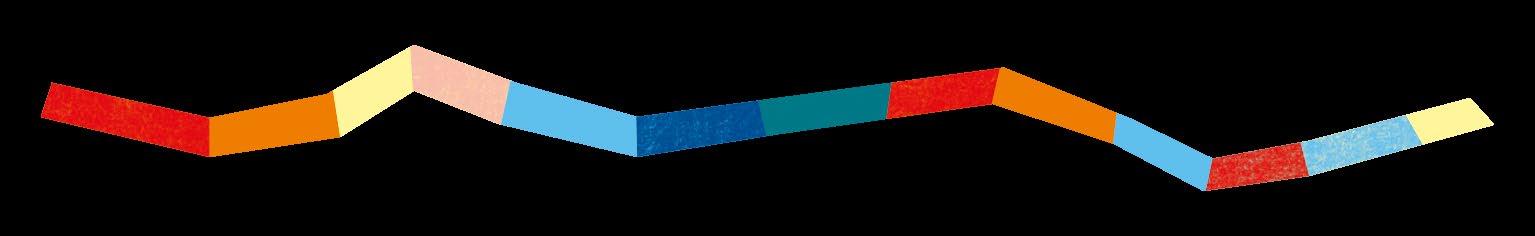
Imagine algo pelo qual você espera impacientemente: o show do seu artista favorito, a sua festa de aniversário, aquela viagem dos sonhos. Eles demoram tanto a chegar que os dias parecem se arrastar. Quando enfim acontecem, a impressão é que passam muito rápido, e a vontade é de congelar o tempo para que durem um pouco mais.
É aí que entra a fotografia, nascida do desejo de eternizar instantes. Só que nem sempre isso se resolveu com a facilidade de um clique. Hoje é quase impossível acreditar, mas, no começo, o simples ato de tirar um retrato demorava dias.
A história começa na década de 1820, quando o francês Joseph Nicéphore Niépce fez as primeiras fotos. Ele se baseou em dois conhecimentos. O primeiro era um efeito de luz realizado com um pequeno furo em uma caixa. Isso projeta a imagem do que está do lado de fora para dentro dela. O processo é chamado de “camera obscura”, uma expressão em latim.
O segundo fenômeno era que alguns materiais deixam uma marca na superfície quando expostos à luz por um tempo. Depois de testes, Niépce encontrou uma fórmula: aplicou um tipo de asfalto dissolvido sobre uma placa de metal e a manteve dentro da caixa durante vários dias. Com um solvente natural, ou seja, um químico com poder de remoção, retirou a crosta que havia se formado na placa e pronto, lá estava a foto – em preto e branco e com uma qualidade duvidosa, mas era uma foto!
Desde então, a técnica evoluiu. Na década de 1880, o tempo necessário de exposição de uma superfície sensível à luz caiu para uma fração de segundo.
Também já se faziam cópias usando o método de negativo (versão invertida da imagem, em que as áreas claras são escuras e vice-versa) e positivo (versão correta), obtidas após uma nova superfície sensível, como o papel fotográfico, ser exposta à luz com o negativo na frente, filtrando a passagem da luz e definindo as regiões claras e escuras. O tratamento é conhecido como revelação. Com o tempo, as placas de metal tinham dado lugar às de vidro, mais tarde substituídas pelo filme de celuloide (o mesmo do cinematógrafo, veja na pág. 76)
A chegada da fotografia colorida, no século 20, foi um marco. Por décadas o processo permaneceu quase o mesmo. A nova revolução veio com o formato digital, baseado em tecnologias desenvolvidas a partir dos anos 1950 por áreas tão diversas quanto a televisão e a astronomia.
Para ter uma ideia, a primeira câmera digital, criada em 1975, era do tamanho de uma torradeira, pesava 4 kg e gravava as imagens em fita cassete. Modelos mais leves começaram a aparecer nas lojas nos anos 1980. Só depois da virada do século, câmeras começaram a se popularizar nos telefones celulares.
Antes, fazer uma foto exigia esforço. O resultado do clique era esperado com ansiedade e depois guardado como tesouro. Agora, tudo ficou mais fácil, mas também passageiro. Produzimos tantas imagens que quase nem nos lembramos delas. Deixamos de valorizar o longo caminho que a fotografia percorreu, desde a placa de metal dentro da caixa até o complexo mecanismo que cabe no bolso. Algo para pensar ao tirar a próxima selfie.

Numa atividade sugerida pela educadora
Célia Harumi, faça uma versão caseira do fenacistoscópio, aparelho que usa um disco giratório para criar a ilusão de movimento das imagens.

VOCÊ VAI PRECISAR DE:
• Folha A4 de papel sulfite
• Folha A4 de papel escuro
• CD ou DVD
• Lápis
• Apontador
• Borracha
• Caneta
• Régua
• Tesoura
• Cola
• Palito de churrasco
• Barbante fino (cerca de 10 ou 15 cm)
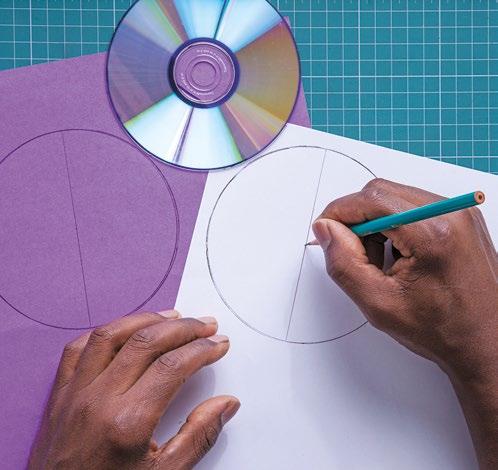
1 Risque o contorno do CD no sulfite e no papel escuro. Marque o centro. Trace uma reta no meio dos círculos.

4 No círculo branco, trace triângulos na ponta das divisões entre os seis gomos.
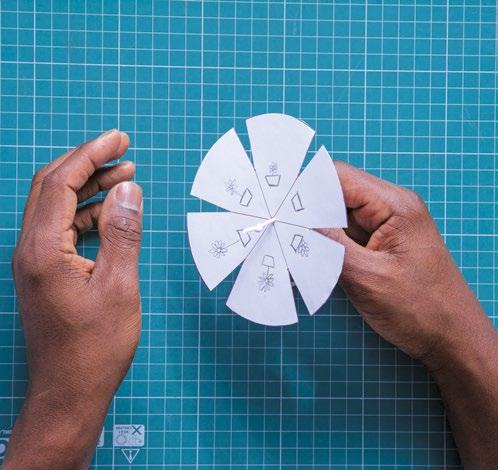
7 Fure o centro do disco. Sem alargar o furo, passe um barbante e dê um nó duplo na ponta que ficou para a frente.

2 No sulfite com o círculo desenhado: a partir do ponto A, assinale um intervalo de 6 cm no contorno.
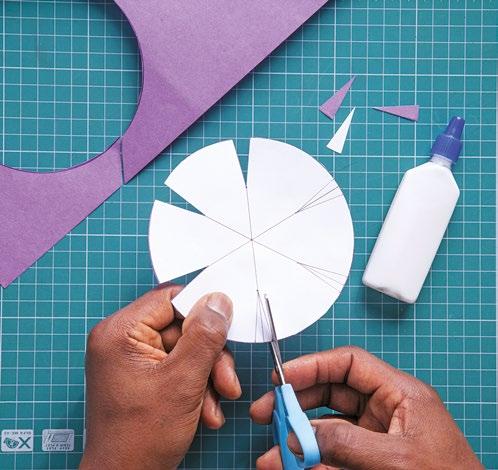
5 Corte os discos branco e escuro e cole um contra o outro. Recorte os triângulos formando fendas.

8 Dando um nó na outra ponta, prenda um palito na face de trás: não pode ficar nem muito firme nem muito frouxo.
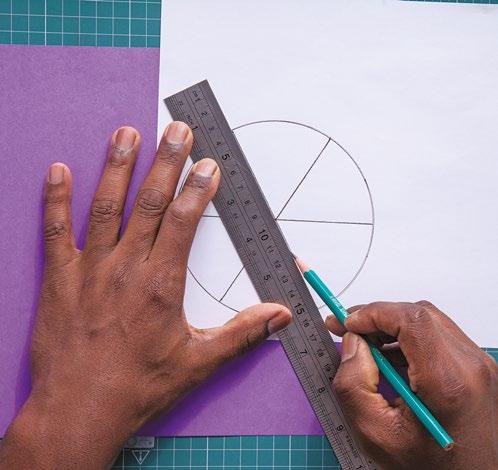
3 Repita a marcação a cada 6 cm e trace retas para ligar esses pontos, passando sempre pelo centro.
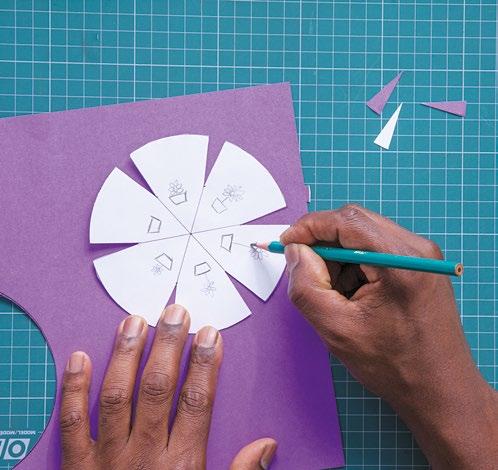
6 Faça um desenho por gomo. Cada imagem deve ser uma variação da anterior.

9 Diante do espelho, olhe pelas fendas enquanto gira o disco: você terá impressão de um único desenho em movimento!
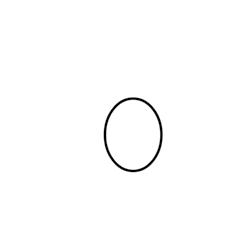

Misto de câmera e projetor, este equipamento movido a manivela revolucionou a captação e exibição de imagens em movimento e deu origem ao cinema
1 Como a ideia dos Lumière era rodar cenas curtas, de poucos minutos, o rolo de filme tinha 18 m no máximo e cabia em uma pequena bobina.
2 O mecanismo era inspirado nas máquinas de costura: a manivela movia dois pinos, que se encaixavam no filme e o faziam avançar até parar bem diante da lente.
3 Dependendo da função (filmar ou exibir), as lentes precisavam ser trocadas. Na hora de projetar, o aparelho era aberto, com a fonte de luz posicionada atrás.
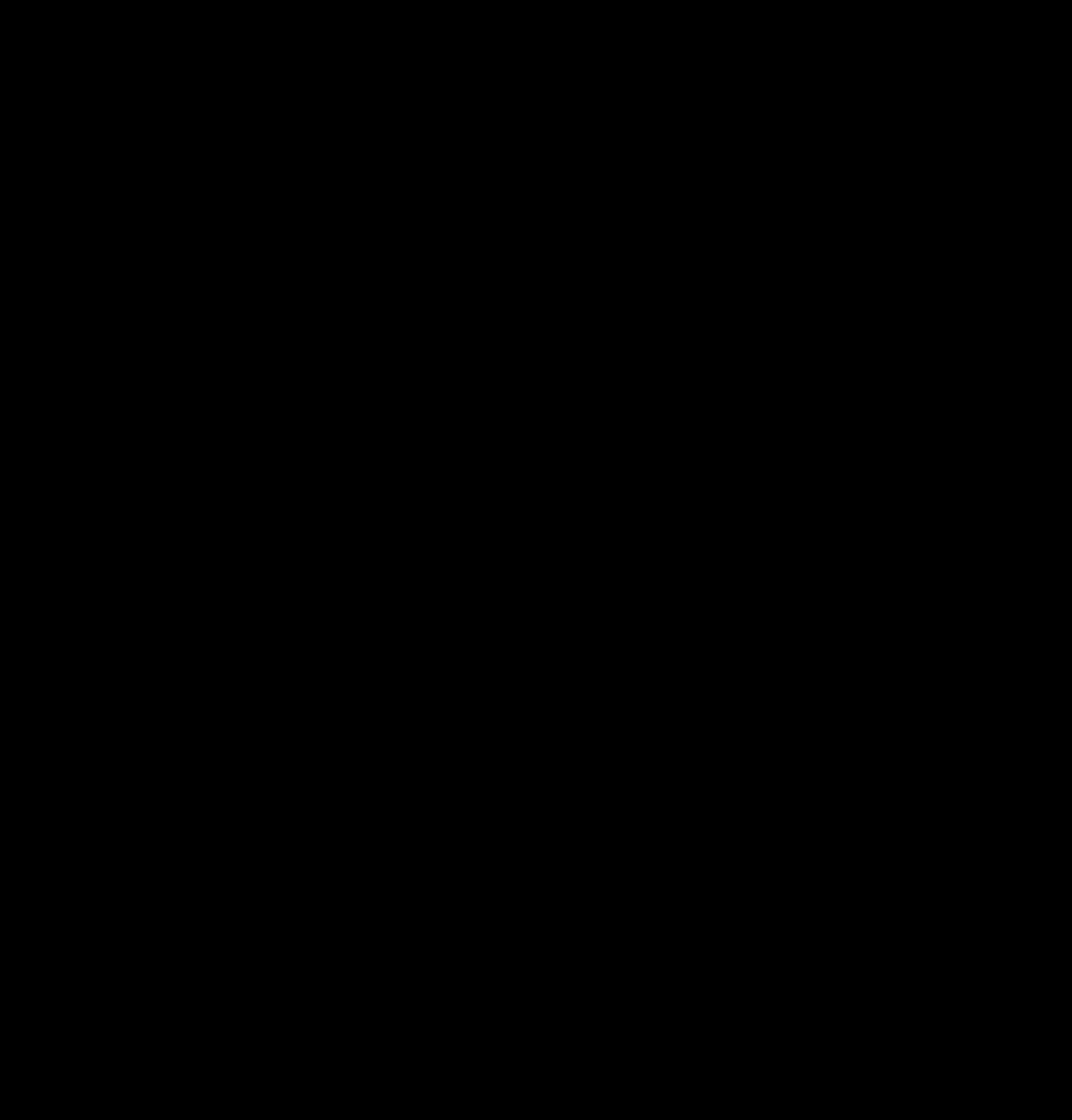
Imagine se você vivesse 130 anos atrás, quando ainda não havia o cinema (nem o telefone celular que você utiliza para fazer vídeos a todo momento!). Qual seria a sua reação se, sentado em uma sala escura, assistisse à cena de um trem chegando à estação? Uma história famosa diz que quem acompanhou a estreia da máquina criada pelos irmãos franceses Auguste e Louis Lumière teria se assustado.
Atualmente, muitos estudiosos questionam se esses relatos não seriam um exagero – afinal, na década de 1890 já existiam equipamentos parecidos com o cinematógrafo (conheça alguns deles nas págs. 72 e 73) Tirar várias fotos por segundo e depois projetá-las na tela uma após a outra, em velocidade constante, de modo a dar a ilusão de movimento, não era, portanto, uma ideia desconhecida.
CADÊ O SOM?
O cinema permaneceu mudo durante décadas, até que o longo processo de avanços em técnicas de gravação, reprodução e sincronização de áudio possibilitou o lançamento dos primeiros filmes sonorizados, nos anos 1920.
O condensador era um frasco de vidro com água dentro. Ele direcionava a luz e ainda impedia que o filme esquentasse demais. Hoje em dia, é um conjunto de espelhos ou lentes.
A maior superfície a receber a projeção do cinematógrafo foi, provavelmente, um tecido de 16 x 21 m – quase o mesmo tamanho das atuais telas de cinema.
Mesmo assim, o cinematógrafo é a maior revolução da área, por causa de suas muitas inovações. Um exemplo é a clareza da imagem, obtida graças ao mecanismo que movia o filme rapidamente (16 quadros por segundo), sem deixá-lo tremer diante da lente. A invenção também trazia componentes usados até hoje, como o condensador, que concentra o feixe de luz responsável pela projeção, melhorando sua qualidade.
Porém a contribuição mais importante dos irmãos Lumière não foi tecnológica. Por reunir multidões encantadas, o cinematógrafo popularizou a ideia do cinema como uma experiência coletiva. Sim, porque o sofá de casa pode até ser mais confortável, mas aquela sensação de dividir o riso, o susto, o choro e a vibração com uma plateia continua imbatível.
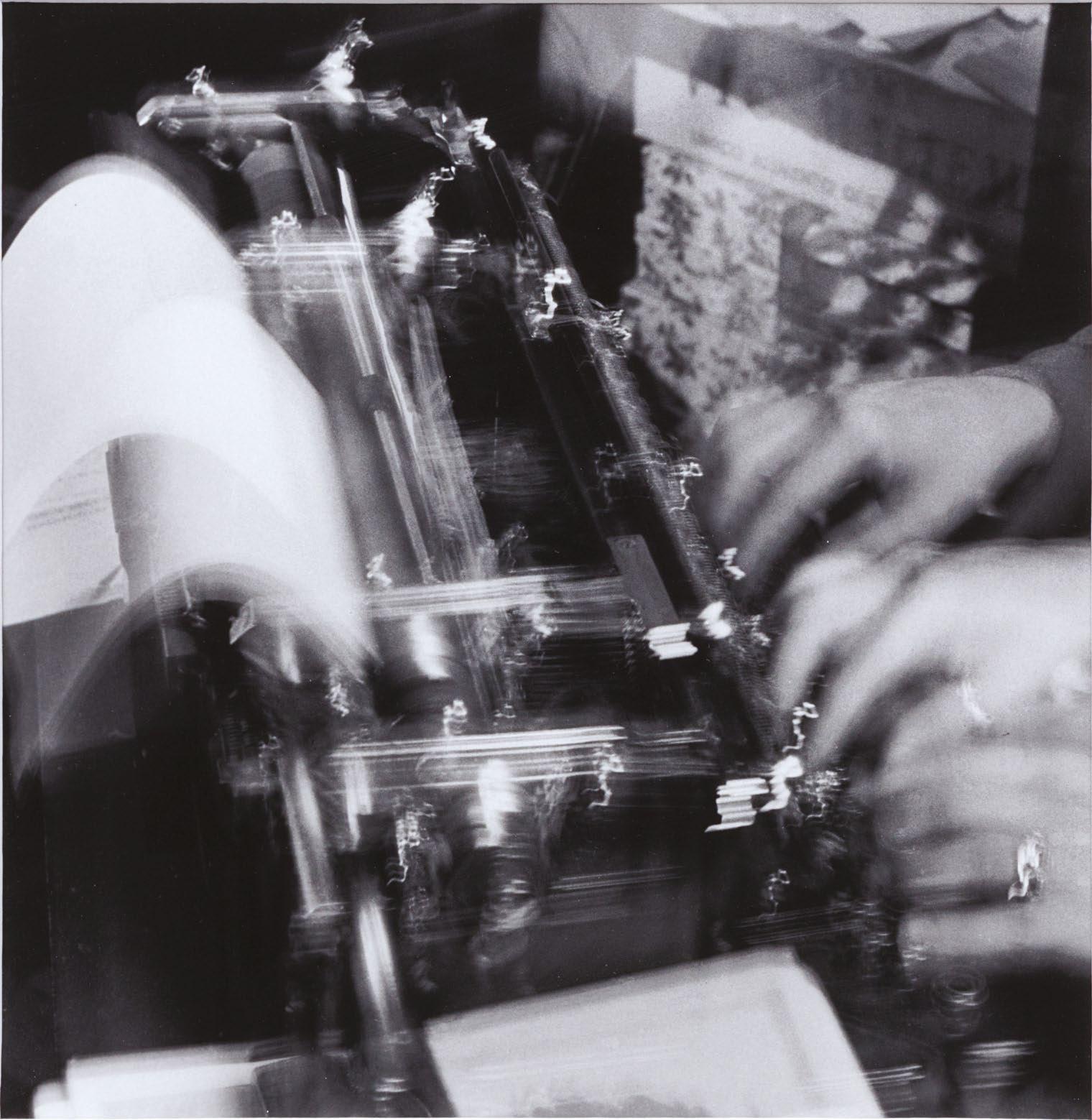
MÁQUINA DE ESCREVER (Homenagem a Homero Silva) Geraldo de Barros
Capturar diferentes imagens em uma mesma foto pode criar a ilusão de movimento (como vimos nas págs. 72 e 73). Isso fica evidente na obra Máquina
de Escrever (Homenagem a Homero Silva) , de 1949. Nela, o fotógrafo, pintor e designer Geraldo de Barros (Chavantes/SP, 1923-1998) presta tributo a um famoso radialista da época. A fotografia, impressa em 40,6 x 30,5 cm, ilustra a busca constante do autor por experimentações e inovações e faz parte do acervo do Sesc São Paulo.
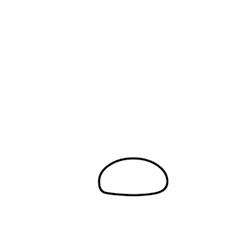
Este parque de diversões foi feito para os seus olhos: basta mirar os balões para que a brincadeira comece. O que está acontecendo com eles? Você não fica com a sensação de ver uma coisa e depois outra? Percorra a ilustração até encontrar mais figuras que pareçam estar se mexendo. Tudo isso é ilusão de óptica! Quantas formas desse tipo há no desenho todo?
O desafio, agora, é dos grandes: registrar o movimento que você percebeu nas imagens da atividade anterior. Para isso, pegue lápis e papel e mãos à obra!
Sem desgrudar os olhos do Almanaque, reproduza em uma folha o movimento de uma das figuras. Se for o de uma espiral, por exemplo, mova a mão no mesmo sentido que os olhos. Prossiga com as outras imagens usando uma folha para cada uma.
Convide mais gente para fazer o mesmo exercício e, depois, tente adivinhar qual traçado corresponde a cada figura. Será que todos nós vemos as coisas do mesmo jeito?
Enquanto o vagão não chega, observe a linha do trem na imagem. Qual das linhas amarelas é maior?
Nem sempre seu cérebro concorda com seus olhos. E pode ser que isso aconteça bem aqui, quando você fizer os experimentos a seguir.
1
Preste atenção nas imagens e responda: Qual dos círculos é o maior?
3
Olhe bem para as colunas de cor turquesa: Qual delas é mais clara? E qual é a mais escura?
Para conferir se acertou as respostas, observe a imagem aqui à direita.
A dica é colocar o Almanaque na altura dos olhos e o inclinar até conseguir ler com um olho só o que está escrito.
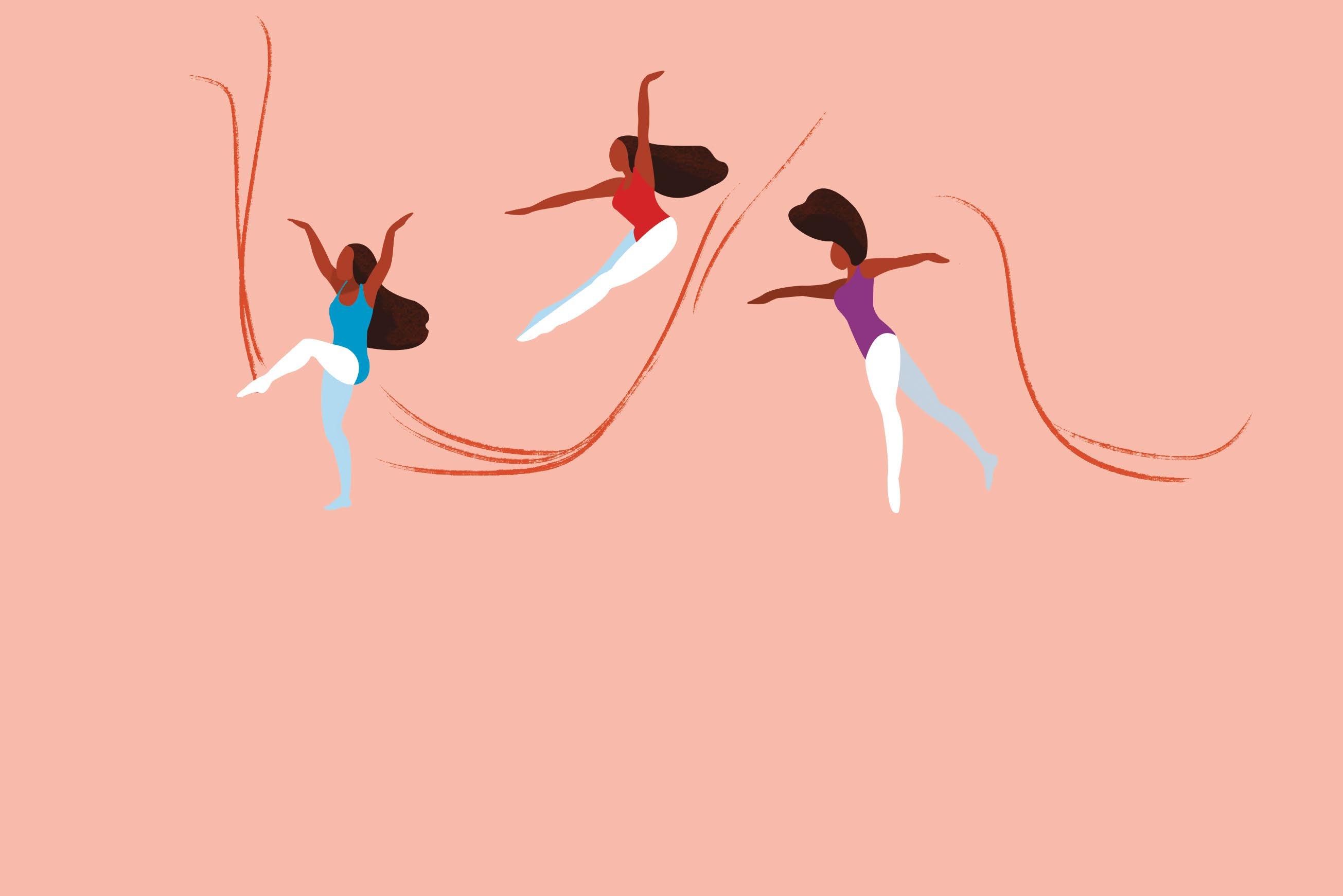


Já pensou que até quando você está parado, há muita coisa se movimentando dentro do seu corpo? Seu coração bate, seus pulmões inflam, sua imaginação vai longe...



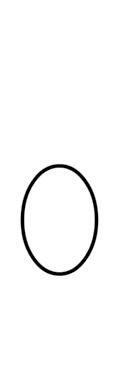
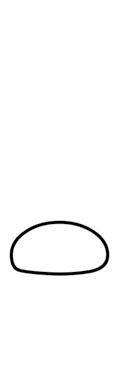
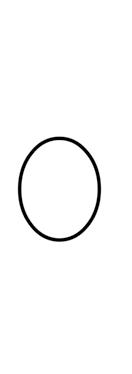
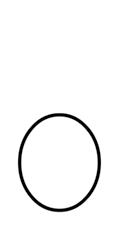
E quando paramos para pensar? Deixar de mover-se é o jeito para colocar mais atenção em si, no movimento interno, no modo como experimentamos e percebemos a vida.
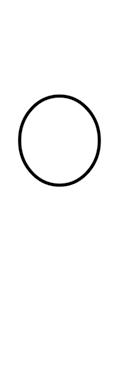
Você reparou na bolinha no canto inferior desta página? Percebeu que ela aparece nas páginas anteriores e dá a impressão de se mover? Provavelmente você também notou que os desenhos em sequência apresentam pequenas diferenças de um para o outro. Quando o Almanaque é folheado rapidamente, seus olhos fazem uma espécie de fusão dos desenhos, levando seu cérebro a “enxergá-los” como uma imagem em movimento.
Publicações que provocam esse tipo de ilusão de óptica chamam-se flipbook, termo em inglês que
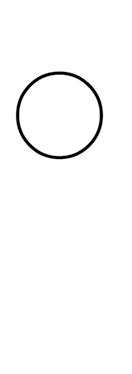
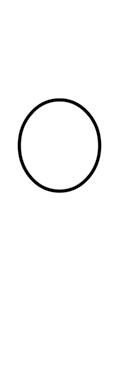
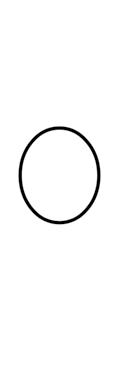
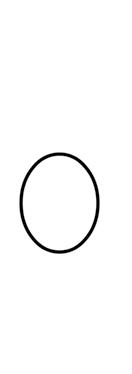

Já pensou que a percepção do tempo é variável? Às vezes ele parece voar, em outros se arrasta… Já pensou que uma mesma coisa é percebida de modos diferentes por pessoas diferentes?
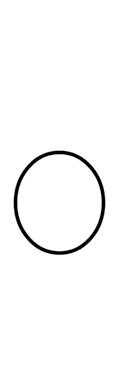
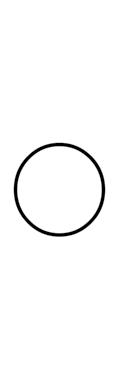
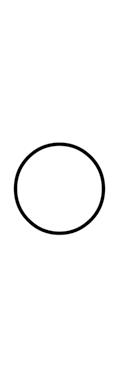
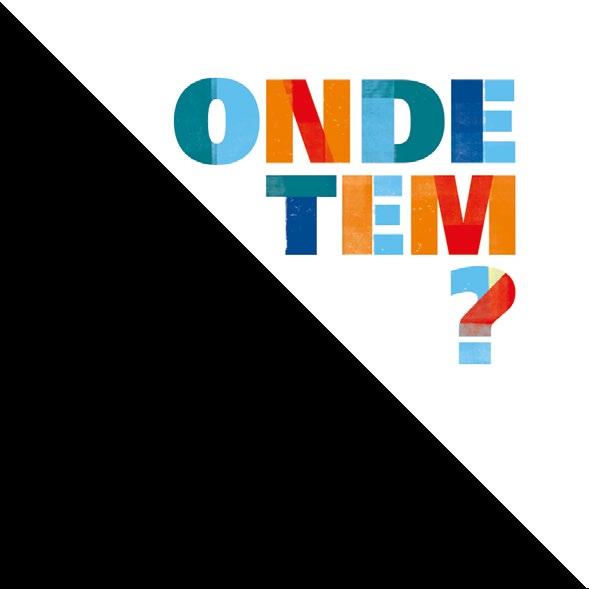
significa alguma coisa parecida com livro de movimentar. Ele foi a primeira forma de animação que já tivemos: deve ser o tataravô do desenho animado e do cinema!
Agora que você já sabe como funciona um flipbook, será que é capaz de criar o seu?
A dica é pegar um bloquinho de umas 50 págs. e fazer um desenho em cada uma delas, sempre deslocando um pouquinho a posição do objeto traçado. Use o próprio Almanaque como exemplo e não desista na primeira tentativa: quanto mais você treinar, melhor ficará sua animação!
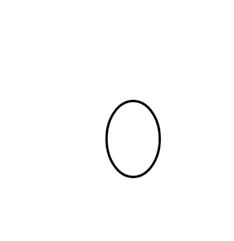




Transformar, misturar e criar são algumas das palavras de ordem do remix, que (re)interpreta o mundo com liberdade criativa
No mundo em que vivemos o que nos define não é só o que consumimos – roupas, aparelhos, entretenimento, arte etc. Para aqueles que vivem pela “filosofia do remix”, é preciso encarar as coisas como matéria-prima à espera de novas apropriações e interpretações. Remixar é reinventar o mundo.
A era digital proporcionou aos “remixadores” – nós, que gostamos de reinventar tudo – a habilidade de não apenas ler ou escrever, mas de criar e editar conteúdos. Passamos a modificar e compartilhar muitas coisas, inclusive música (remix também é sinônimo de músicas misturadas).
A ideia de remix evoluiu da pickup dos DJs para o cotidiano. Qualquer pessoa com acesso à internet pode criar ou compartilhar memes: imagens e vídeos que usam cenas ou personagens conhecidos com legenda engraçadinha para fazer humor ou crítica de algo. O mesmo processo pode ser feito com cinema, fotografia, artes visuais e outras linguagens. As redes sociais são grandes vitrines de coisas remixadas, como os vídeos de pessoas dublando ou dançando os sucessos do momento.
Remixamos porque podemos, para nos divertir e para sobreviver. E se algumas tecnologias – indispensáveis para viver neste mundo digital – são caras e inacessíveis, sempre haverá uma comunidade na internet dedicada a desenvolver versões mais baratas ou gratuitas de
equipamentos. Exemplos são os fóruns virtuais que compartilham dicas para construir máquinas caseiras e programas de código aberto (pág. 88)
Nesses espaços virtuais habitam os hackers – espécie de curiosos amadores ou profissionais – que se dedicam a descobrir utilidades de equipamentos ou programas que vão além do previsto pelos criadores. Assim como na vida fora das redes, onde há pessoas com boas e más intenções, entre a comunidade hacker existem também aqueles que optam pelo crime, mas isso não é a regra geral. A maioria quer ajudar a produzir e compartilhar conhecimento.
Essa filosofia da reinvenção passou a ser aplicada no combate ao desperdício de recursos naturais. Na contramão do consumo desenfreado, que se relaciona diretamente com a produção massiva de coisas que vão virar lixo, ganha força o upcycling (pág. 87), movimento que propõe reaproveitar objetos que seriam descartados para fazer coisas novas. É uma maneira sustentável e responsável de estender o ciclo de vida útil dos recursos.
A reinvenção está em todo canto. Mas ela esbarra em questões como respeito à autoria e fronteiras entre a criação por meio do remix e o plágio (a cópia descarada). Trata-se de uma discussão constante dentro da cultura do remix que tende a se ampliar. Essa, afinal, não é somente a linguagem do hoje, mas também a do amanhã.
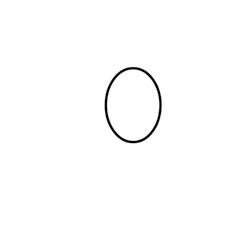
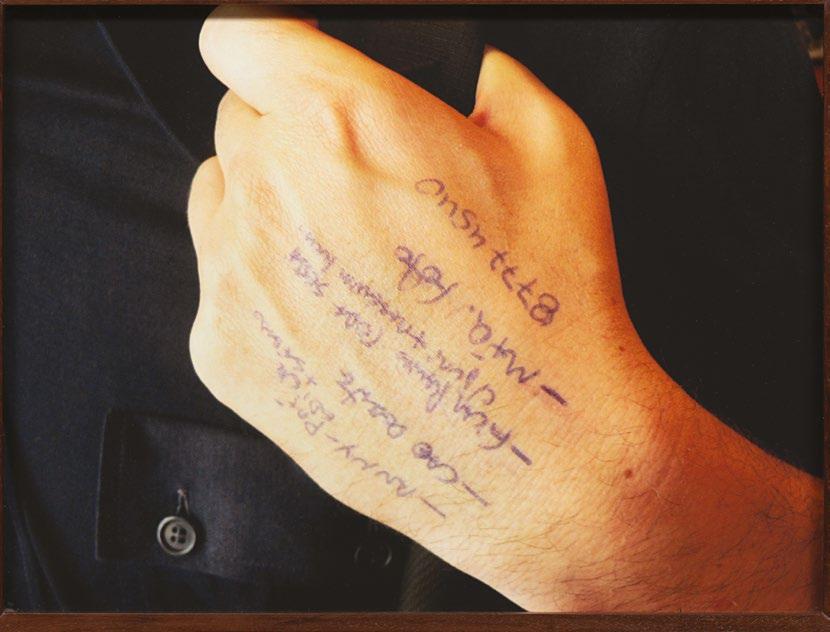
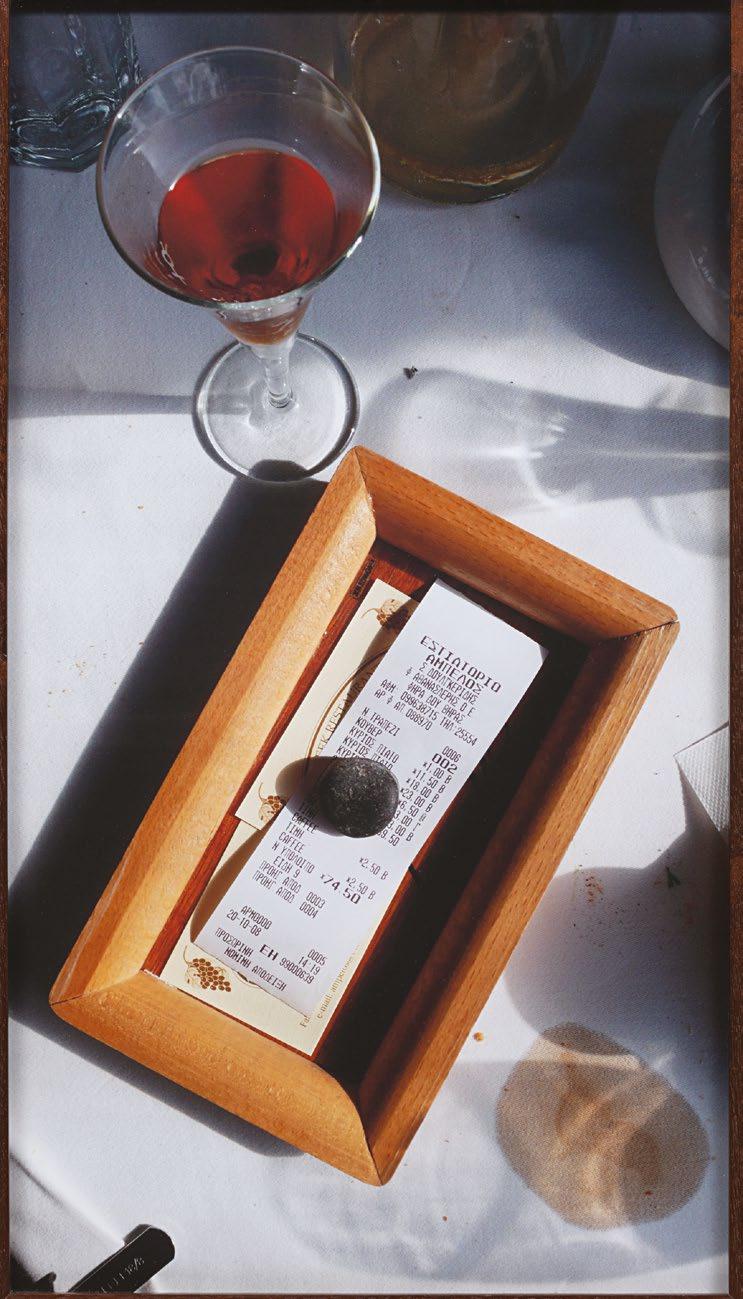
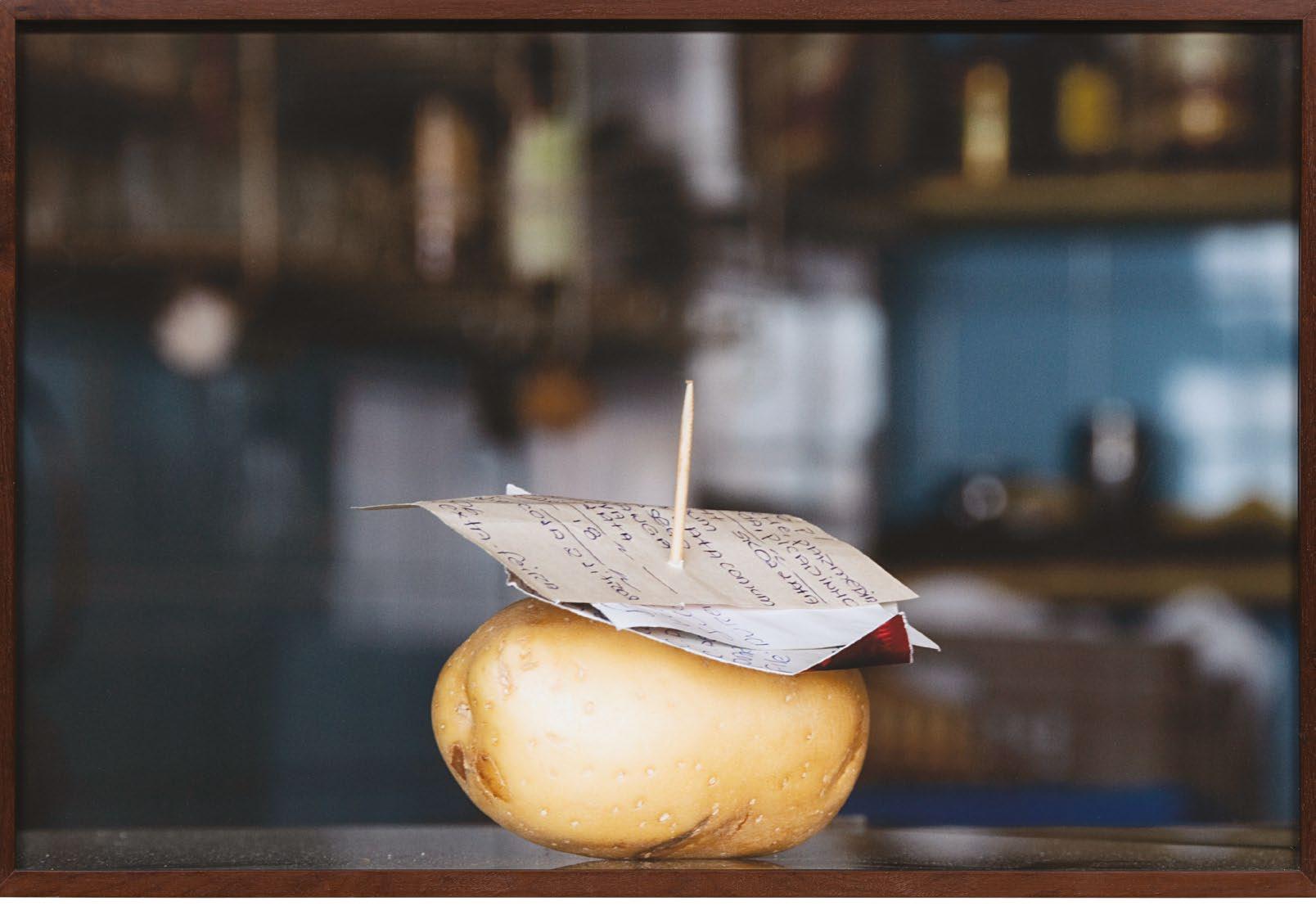

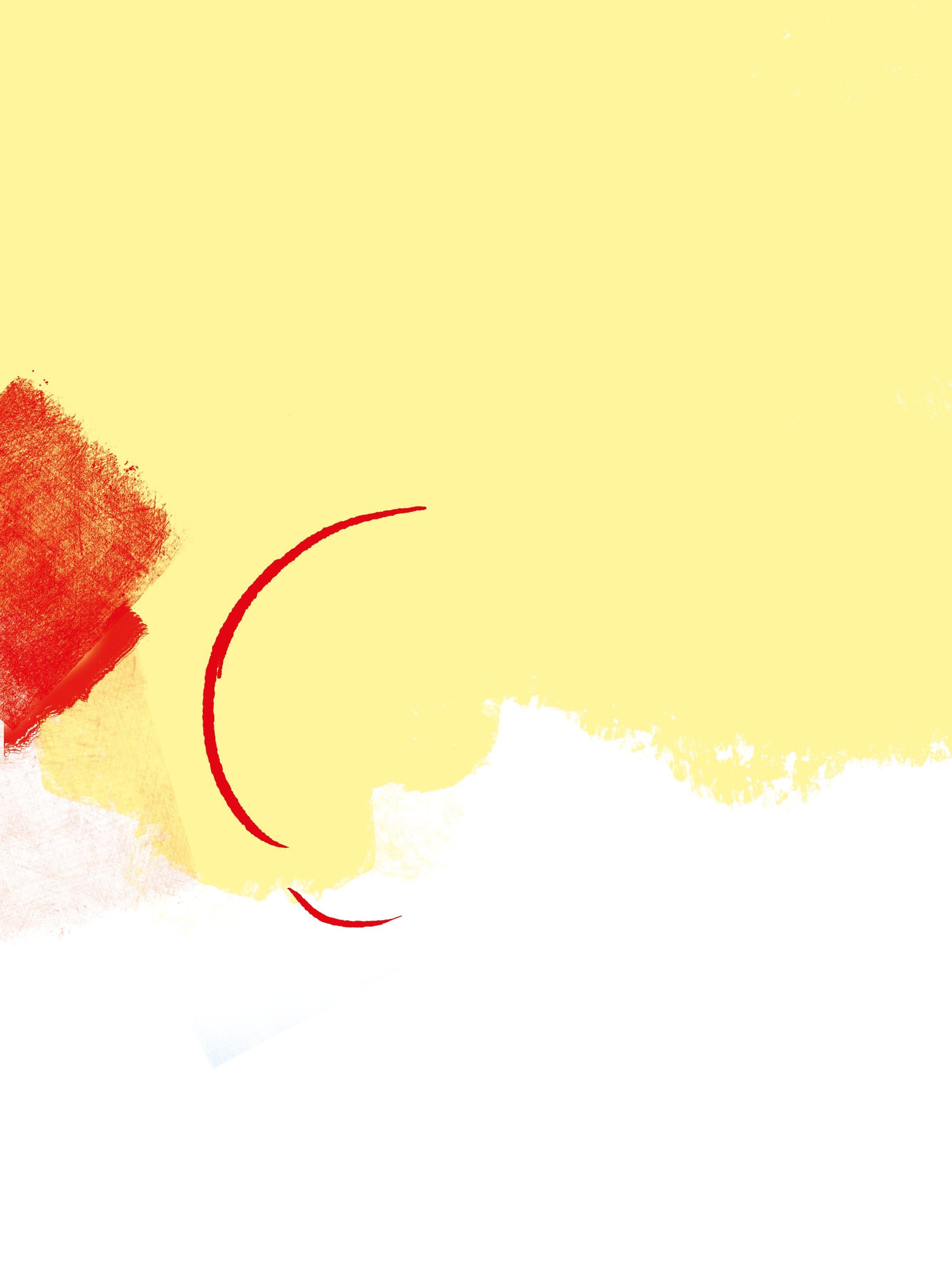
O que você entende por gambiarra? Notícias da década de 1880 empregavam a palavra para se referir a extensões de luz, que parece ser o significado mais antigo do termo. Hoje, porém, quase ninguém sabe disso. Para alguns, o que ficou no registro mental é a ideia de coisas malfeitas e de “conexões irregulares”, como se dizia nas ruas e nos jornais brasileiros dos anos 1980 e 1990.
Apesar de a palavra às vezes ter caráter pejorativo, hoje a gambiarra representa uma expressão de criatividade. É cada vez mais associada a improvisações que pessoas realizam para atingir necessidades do dia a dia, como nas cenas vistas aqui, flagradas pelo fotógrafo mineiro Cao Guimarães. Já há quem defenda, inclusive, que a gambiarra é algo muito maior, uma das grandes marcas da cultura do século 21 – um modo de pensar criativo que se apropria de objetos e ideias disponíveis e, sob um novo contexto, os reinventa.




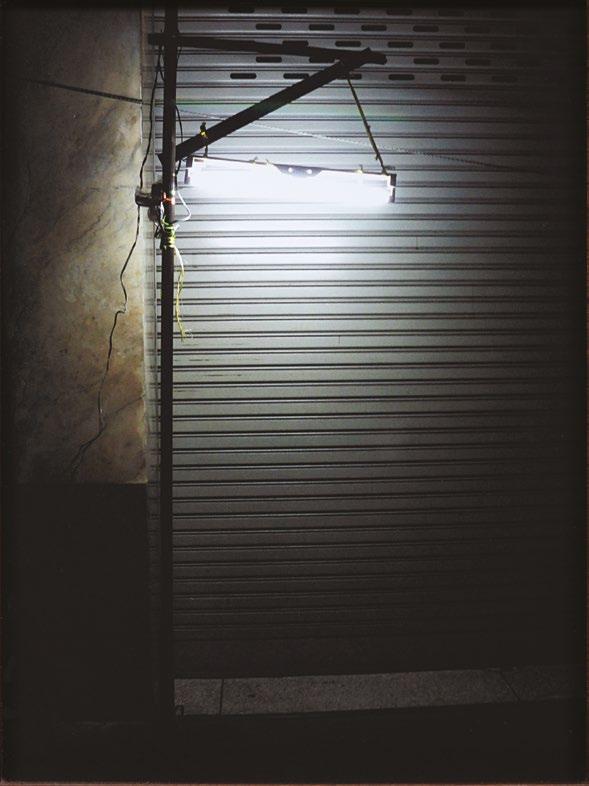
“ESTÉTICA DA GAMBIARRA”
Esse foi o nome de uma mostra de Cao Guimarães realizada no Sesc Interlagos em 2015. Captadas entre 2008 e 2014, as imagens em trios levam o título de Nichos de Gambiarras e foram agrupadas pelo autor conforme os temas.





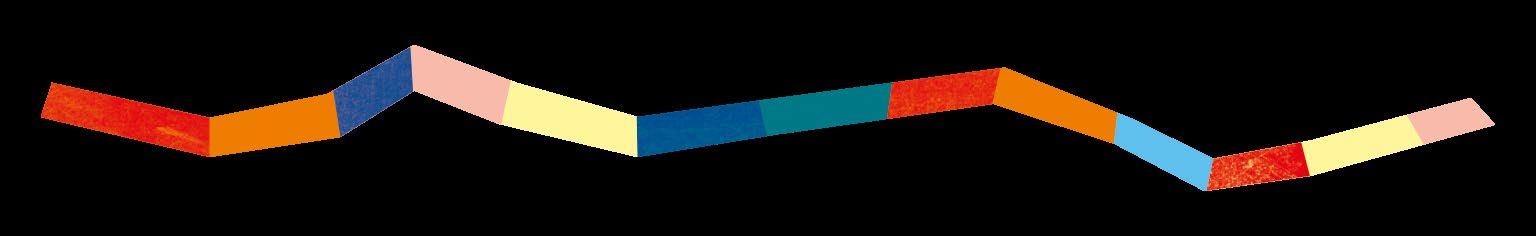
Esse movimento de música, dança e arte de rua nasceu nos Estados Unidos na década de 1970 e ainda hoje continua influente na cultura
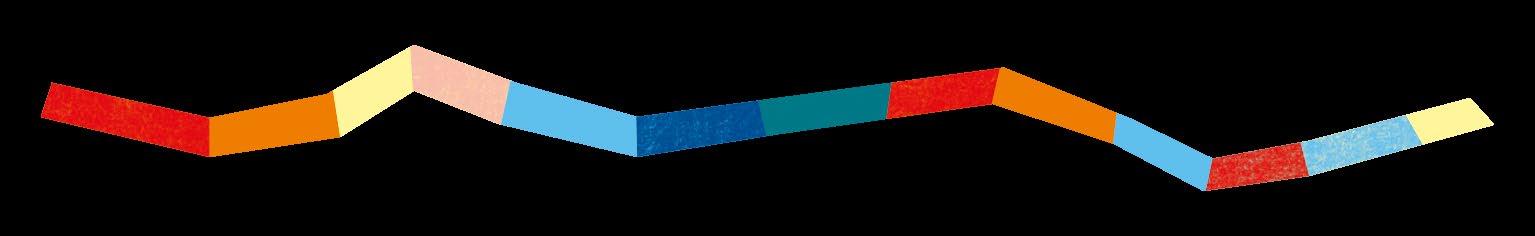
Tem gente que acha que hip hop é sinônimo de rap. É isso, mas não é só isso. Além das batidas e poesias do rap, o hip hop engloba também a dança conhecida como break; a estética do grafite, que colore as ruas das cidades; um modo original de se vestir e falar; além do conhecimento, capaz de produzir aprendizado, consciência e transformação na vida daqueles que lhe dão ouvidos. São elementos que fundamentam essa expressão cultural que surgiu nos EUA nos anos 1970.
O hip hop é uma revolução. Deu voz à juventude que sofria com violência, pobreza, racismo e outros problemas sociais presentes nas periferias das grandes cidades.
Foi numa festa em Nova York que DJs como Kool Herc e Afrika Bambaataa notaram que a pista se animava em trechos específicos das músicas. Com dois toca-discos, começaram a manipular os bolachões para repetir ou saltar a música para passagens específicas, compondo uma mixagem diferente – um “remix”. O sucesso foi grande, e a novidade se espalhou. Mais DJs adotaram a técnica e inventaram outras ainda, como o “sampling”, que monta uma música nova juntando pedaços de outras existentes.
Grandmaster Flash deu contribuições fundamentais ao trabalho dos DJs, aprimorando as técnicas de mixagem e incorporando o riscar dos discos de vinil como elemento sonoro, o chamado scratch. Com amplo conhecimento de eletrônica, ele também aprimorou o uso do mixer, equipamento que possibilita controlar e misturar canais de som. Ainda incorporou o fone de
ouvido, possibilitando ao DJ ouvir uma música enquanto toca outra.
Alguns DJs começaram a convidar pessoas para subirem no palco para se expressar ao microfone. Surgiram os mestres de cerimônia, ou MCs. Da mistura dos versos com as batidas, nasceu um estilo baseado em ritmo e poesia – em inglês, a sigla RAP.
Diante do palco, o break tomava conta das pistas, misturando passos de estilos antigos com movimentos novos, dando origem a uma dança chamativa como o grafite, envolvente como a batida do DJ e fluida como o rap. Desde o início, já era encenada como batalha, com um oponente tentando superar o outro ao fazer manobras surpreendentes.
Dos EUA para o mundo, o hip hop se espalhou. Jovens das periferias brasileiras se identificaram. Num contexto de escassez de recursos e poucos meios de manifestação, o hip hop gera explosões criativas. Um intenso compartilhamento de ideias e expressões passou a se dar de modo articulado em torno do movimento hip hop. Diferentes arranjos sociais e recombinações do que já existia para criar coisas novas são as grandes tecnologias desse movimento.
Hip hop é remix, pois nasce e se alimenta da mistura de elementos, da apropriação de repertórios, da reinvenção de estilos e da colaboração de ideias e fazeres. Até hoje é uma das principais forças de transformação social da periferia. Mais relevante do que nunca, o hip hop segue vivo e em constante transformação.

O upcycling propõe a criação de produtos novos a partir de objetos aparentemente inúteis ou que seriam descartados. O educador Sergio Segal sugere colocar essa tendência em prática fazendo uma luminária.

VOCÊ VAI PRECISAR DE:
• Lata de leite em pó ou achocolatado
• Canetinha ou caneta do tipo marcador
• Bocal de lâmpada com fio
• Prego grande
• Martelo
• Chave Phillips ou chave de fenda
• Cabide de arame encapado e desmontado
• Régua (ou trena)
• Alicate
• Plugue (novo ou aproveitado de uma extensão ou aparelho sem uso)
• Lâmpada LED de 6 W (a tensão, em volts, deve ser igual à da rede elétrica na sua casa)

1 No fundo da lata, marque o ponto central e trace o contorno do bocal. Fure o contorno usando prego e martelo.

4 Na parte maior do cabide, meça 14 cm a partir de cada cotovelo e marque. Corte as pontinhas, igualando-as.

7 Encaixe as pontas do cabide nos furos e entorte-as lá dentro para fixar a lata. Ajuste até o conjunto ficar estável.


3 Encaixe o bocal de lâmpada no buraco cortado, com o lado da rosca para dentro.

5 Meça 2 cm a partir das pontas e dobre-as. Faça dobras nas marcações anteriores para dar forma à estrutura.

8 Descasque a ponta dos dois fios que compõem o cabo. Ligue cada fio a um conector do plugue e feche-o.

6 Marque 4 cm acima do fundo da lata; repita no lado oposto. Faça os furos, apoiando a lata para não amassar.

9 Rosqueie a lâmpada no bocal e só então conecte o plugue da luminária na tomada.
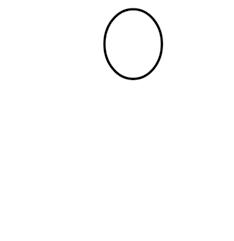

Este equipamento computadorizado que corta e esculpe madeira, plástico, metal e outros materiais é um remix de ideias

1 A CNC router fica ligada a um computador, onde o desenho a ser cortado é criado e convertido em um código que a máquina consegue entender.
2 O código é lido por uma placa microcontroladora, muitas vezes um Arduino, que é de código aberto. Ela pode ser programada para várias funções, como abrir e fechar cortinas.
3 O Arduino controla os três motores da máquina. Potentes e muito precisos, eles realizam os movimentos necessários para seguir todos os detalhes do desenho.
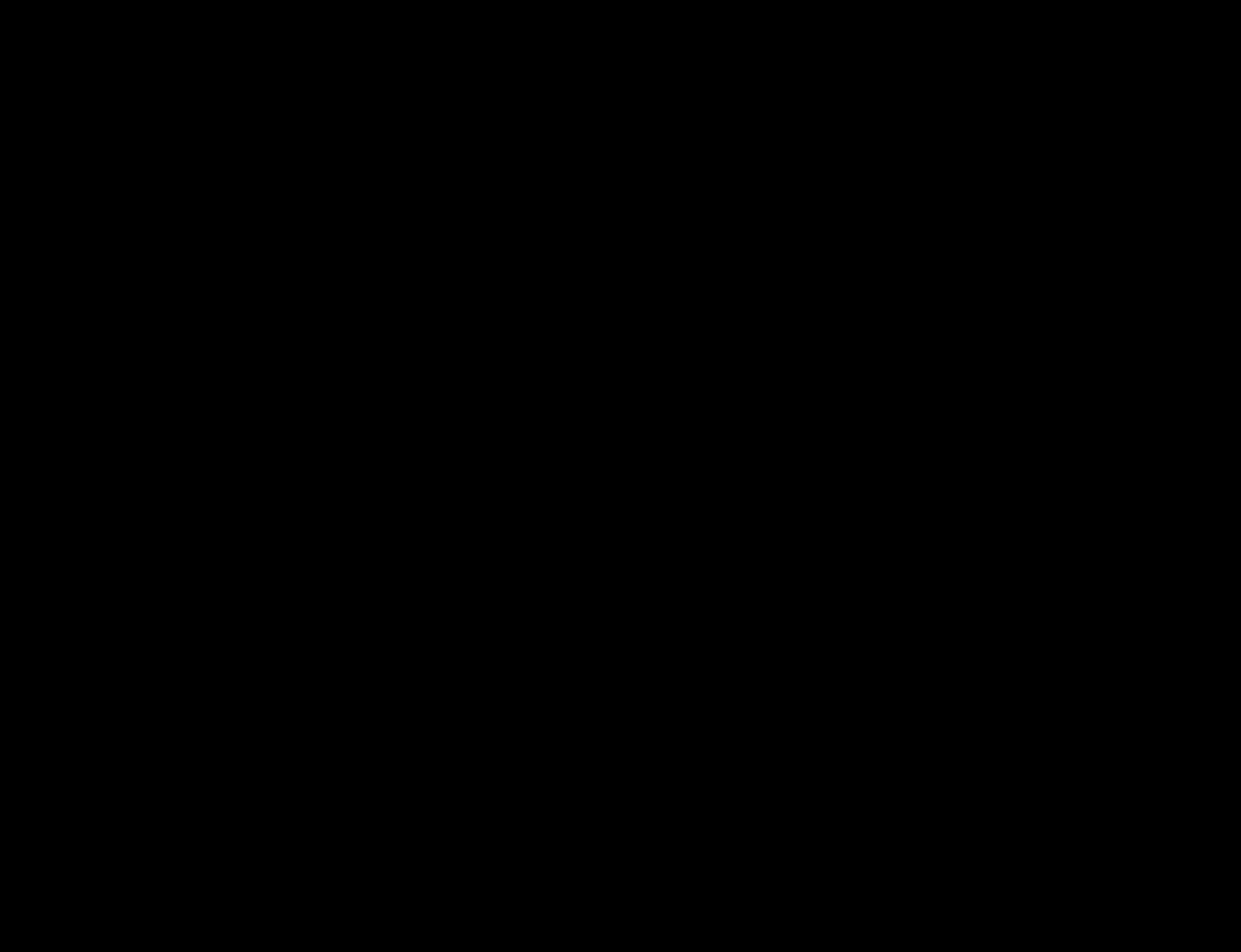
MÃOS NA RODA
Quer construir sua CNC router, mas não entende muito de mecânica ou programação?
Na internet, há grupos e comunidades que compartilham tutoriais e dicas.
Não é exagero dizer que, em várias ocasiões, o avanço tecnológico é um remix. Muitas vezes um inventor combina criações já existentes para resolver um problema. A genialidade está em perceber esse caminho nunca antes visto.
Diversas máquinas nascem assim, e a CNC router é um exemplo. O nome dá a pista: CNC é a sigla para “controle numérico por computador”, um meio de automatizar equipamentos desenvolvido a partir dos anos 1940; e “router”, em inglês, é fresa, ferramenta com uma ponta cilíndrica que gira bem rápido e corta materiais como madeira, plástico e metal. A junção dos dois mecanismos deu origem a um aparelho que faz recortes precisos, em contorno ou baixo-relevo, que seriam difíceis de produzir manualmente.

4 Assim como a impressora 3D, a CNC router se move em três eixos: para a esquerda e para a direita, para a frente e para trás, para cima e para baixo.
5 Aqui, o corte da placa é obra da fresa. Mas há máquinas semelhantes que usam plasma (espécie de gás superaquecido) e até jatos de água em alta pressão.
A indústria emprega a CNC router na fabricação de peças como móveis. Sem recursos para comprar uma máquina assim, há quem construa a própria versão, adaptando o que tem à mão – e dividindo com outros os seus aprendizados. Essa prática integra a cultura “maker” (a palavra em inglês significa “fazedor”), movimento que incentiva cada um a criar os instrumentos e objetos de que necessita.
As variações “maker” da CNC router costumam ser pequenas, adequadas para fazer customizações e artesanato, como itens decorativos de MDF. Já que a ideia é diminuir o custo, elas se valem de componentes baratos. Os programas de computador, por exemplo, quase sempre são os de código aberto: softwares que executam as mesmas funções que os pagos, no entanto são disponibilizados gratuitamente para qualquer um usar, modificar e melhorar.
Nelson Leirner
A cena parece familiar? Pois em A Santa Ceia – Flores, o artista Nelson Leirner (São Paulo/SP, 1932-2020) se apropriou do famoso quadro A Última Ceia, de Leonardo da Vinci, e fez uma releitura da obra,
substituindo Jesus e os apóstolos por flores. Conhecido por seu trabalho questionador, o autor quis refletir sobre as incontáveis vezes que uma imagem como a original, pintada há mais de 500 anos, já foi reproduzida. Esta tela de 100 x 70 cm foi criada em 1990 usando uma mistura de técnicas, inclusive colagem.
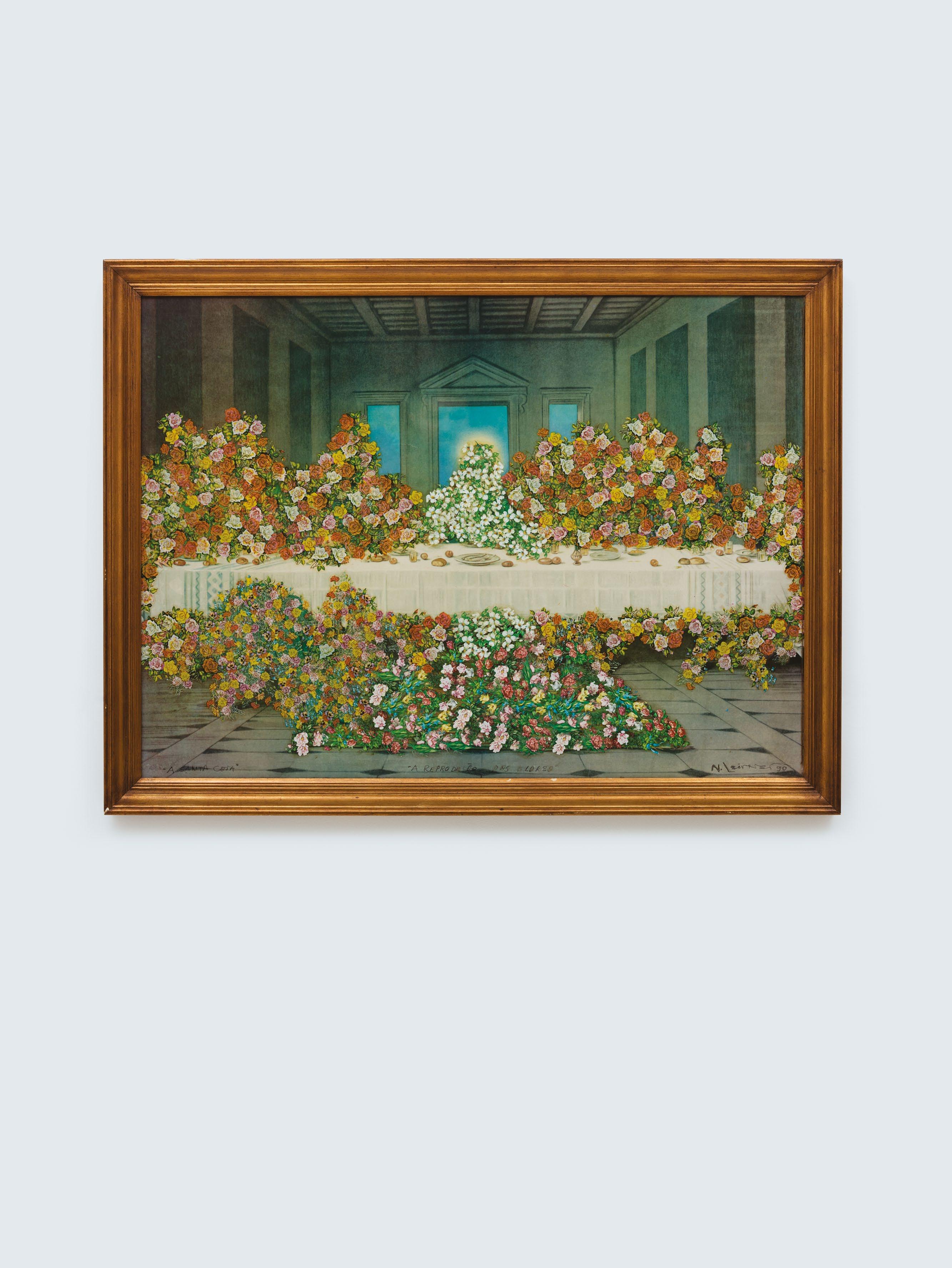

Quando a gente sorri, não é só com os lábios que faz isso, certo? Tudo na face contribui para nossas expressões, do nariz às orelhas, das sobrancelhas à boca. Que tal brincar com elementos como esses para transformar os contornos acima em rostos?
Nesta atividade, vai muito bem a técnica de colagem: você pode usar revistas, jornais e papéis coloridos para recortar uma coleção de narizes, olhos etc. Confira as 15 sugestões listadas e aproveite umas cinco delas no seu trabalho – o resto você faz como preferir. Depois de brincar com as possibilidades, cole os recortes para finalizar os rostos.
1Testa muito grande 2 Sobrancelhas grossas
3 Cílios gigantes 4 Um olho mais baixo que outro
5 Um olho de cada cor 6 Nariz redondinho
7 Orelhas pontudas 8 Boca enorme, cheia de dentes
9 Boca fininha, de um traço só 10 Bigode extravagante
11 Barba longa 12 Um corte de cabelo sensacional
13 Brincos esquisitões 14 Batom chocante
15 Óculos maluquíssimos
Pensando nas expressões que você criou, não seria divertido inventar um diálogo entre os personagens, com pergunta e resposta? O que será que eles estão dizendo?
O que acha de inventar personalidades para objetos do dia a dia?
Procure na sua casa itens que você acha simpáticos. Recorte as figuras ao lado e use fita adesiva para fixá-las nas peças. Você vai dar vida às coisas à sua volta!
Como vão se chamar os seus personagens-objetos? Depois de dar nomes curiosos, crie uma frase engraçada em que pelo menos cinco palavras iniciem com a primeira letra do objeto.
Exemplos:
Caneca Maluca: tem uma cara curiosa, certamente é uma cientista completa. Vaso Arregalado: vai virar caco se alguma vez a vovó visitar a gente.
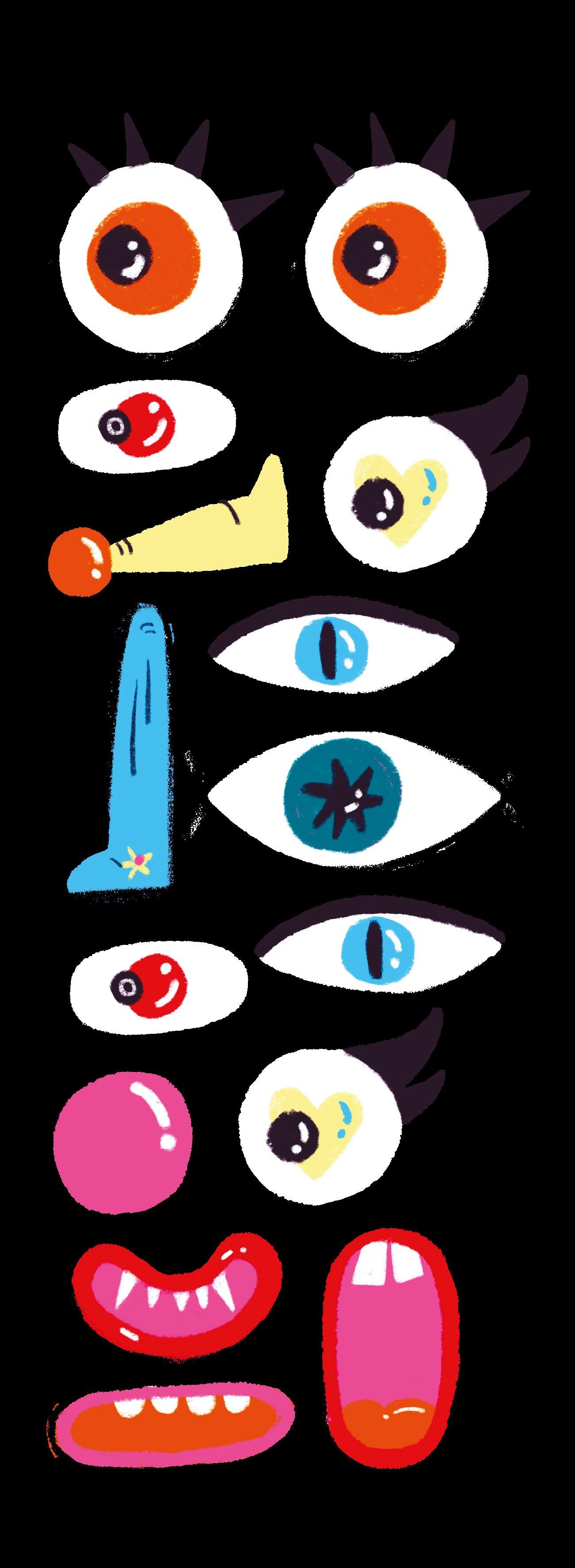
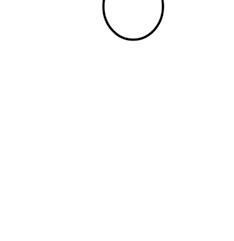
Viu mesmo? Como ele é? Os dois jogos a seguir vão desafiar a sua memória e capacidade de associação. Para brincar, recorte as cartas que estão na aba da capa de trás do Almanaque e que são idênticas às do painel ao lado.
Jogadores: 2 a 4 | Duração: 5 min
Descrição: A missão é juntar os pares unindo imagens parecidas e com molduras idênticas.
Como jogar: Embaralhe as cartas e organize-as sobre a mesa com as imagens voltadas para baixo. Um jogador vira duas cartas: se conseguir formar um par, reserva essas cartas e continua jogando. Se não formar um par, desvira as cartas, deixando-as no mesmo lugar em que estavam, e passa a vez para o próximo participante.
Quando não houver mais cartas na mesa, a partida termina, e vence quem tiver juntado mais pares.
Dica: Memorize o lugar de cada carta para conseguir fazer um par na sua vez!
Jogadores: 2 | Duração: 10 min
Descrição: Quantas perguntas são necessárias para adivinhar a carta que o adversário esconde?
Como jogar: Com as cartas espalhadas na mesa, um participante escolhe mentalmente uma delas, sem falar nada. Para descobrir qual foi a carta selecionada, o outro jogador deve fazer perguntas ao adversário sobre características da imagem. Só há três alternativas para as respostas: “sim”, “não” ou “não dá para saber”. É importante anotar a quantidade de perguntas feitas.
Conforme recebe as respostas, o jogador vai eliminando cartas até que reste só uma na mesa. Se não tiver havido nenhum engano, ela será a imagem escolhida pelo primeiro participante. Na partida seguinte, invertem-se os papéis.
Ganha o jogo quem precisar de menos perguntas para identificar a carta do adversário.
É só procurar por olhos e bocas que rostos saltarão destas 24 imagens. Então, comece já! Dá até para atribuir personalidade às coisas fotografadas.












Se quiser ver mais imagens assim, procure na internet pela expressão “I see faces in places” ou “eu vejo rosto nas coisas”. Você vai se divertir!


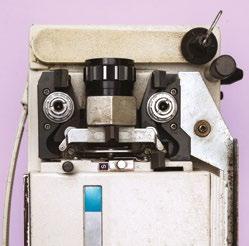



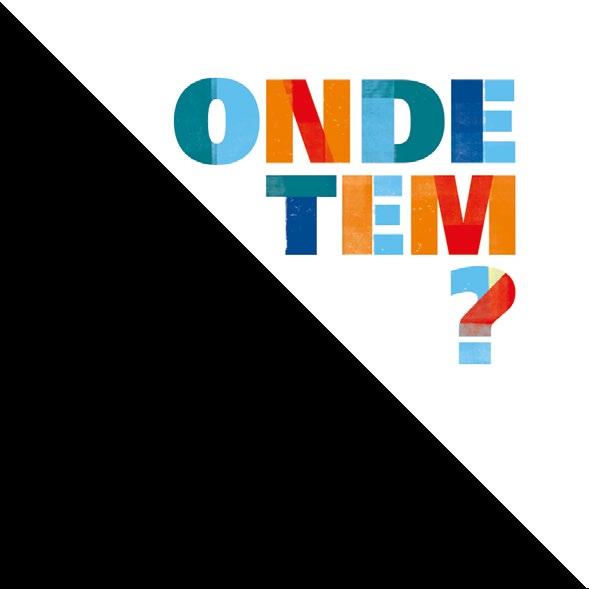

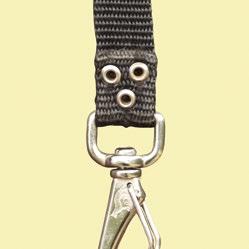





Já pensou em quantos objetos foram produzidos na história da humanidade? Alguns ficaram esquecidos, outros, ultrapassados. Muitos estragaram ou quebraram. A maioria acabou descartada.
Já pensou que daria para fazer um enorme Museu das Coisas Descartadas, cheio de objetos das mais variadas formas e materiais? E que eles poderiam ser recombinados para gerar novas coisas?
Então, será que precisamos de tantas coisas novas todos os dias? Talvez baste olhar com criatividade e interesse para o que já existe. É só mudar o lugar da invenção: trazê-la para dentro de nós. Já pensou?
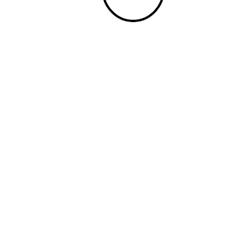
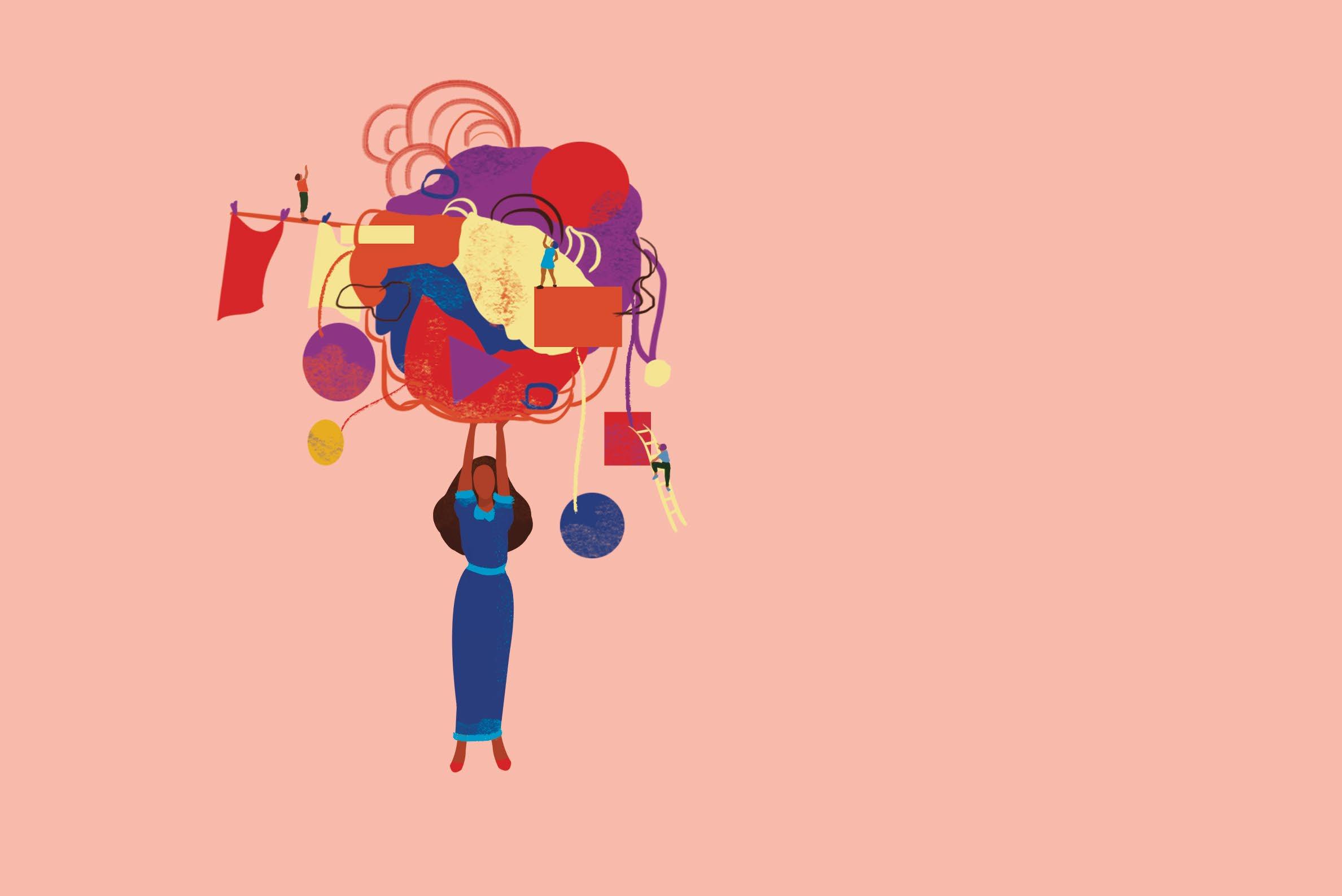
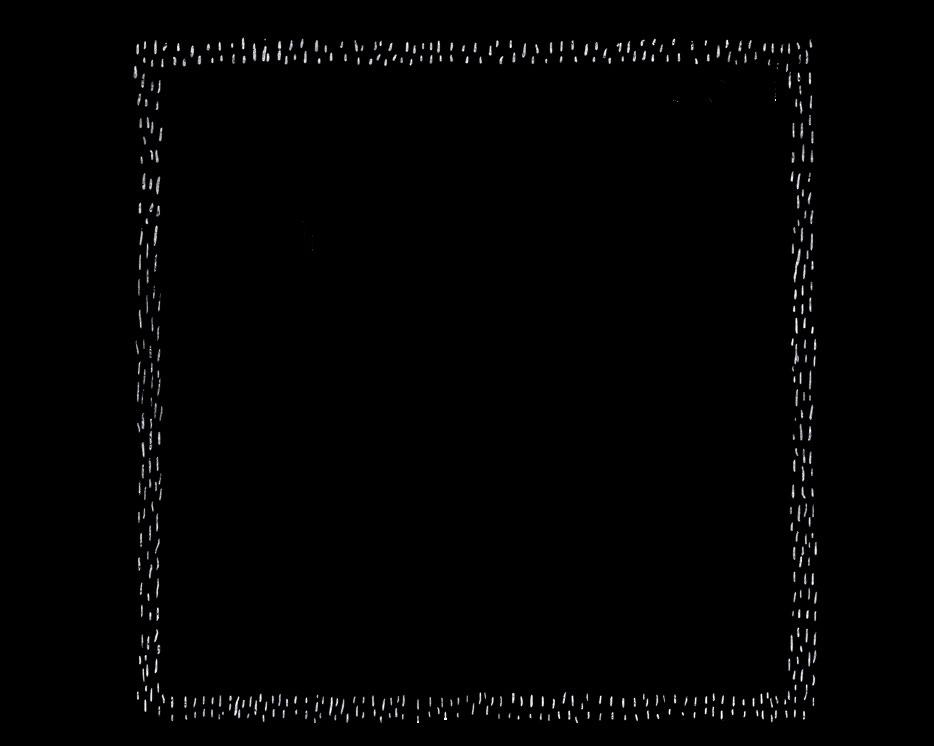
R E X I L
A A P E E E
N R L C M
Ç E I A A E P
A C M R I C O
R E L I Ç A E
D A O R A M O I A
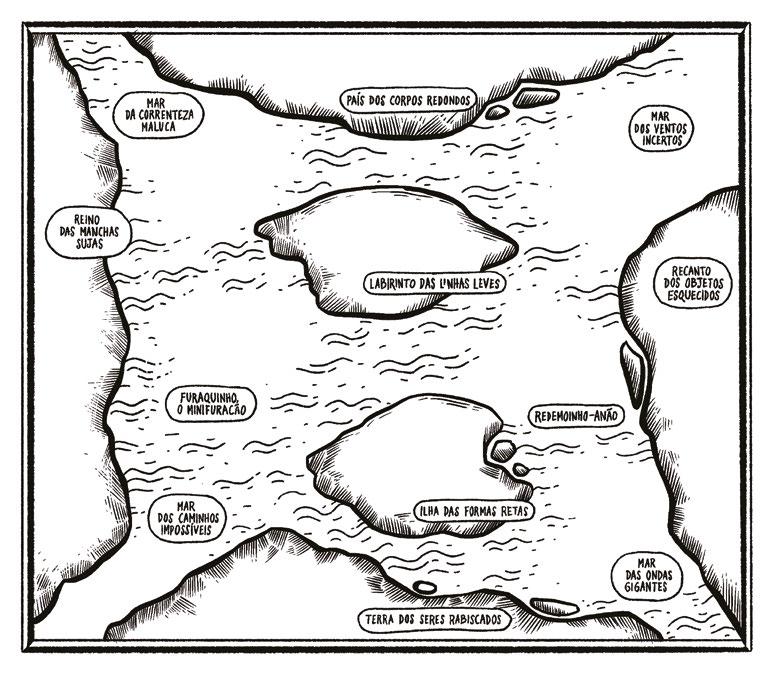

PALAVRA ESPELHADA
pág. 19
IMPRESSÃO FROTAGEM MATRIZ CARIMBO GRAVURA
DA TRAMA
À TRAMOIA
pág. 31
TRAMOIA TEAR
TAPETE
TRANÇAR TRELIÇA
CÓPIA
JORNAL GOIVA
LIVRO GRÁFICA
TRAÇANDO TERRITÓRIOS
pág. 44
TELA
TECIDO TEMPO TEIA TECER
RELEVO CORDEL INVERTIDO IMPRENSA COMUNICAÇÃO
TRICÔ TÊXTIL TRAMA
ESCREVENDO O DESENHO
OU DESENHANDO A ESCRITA?
pág. 45
1 É preciso sempre desenhar, desenhar com os olhos, quando não se pode desenhar com lápis.
Balthus (Balthasar Klossowski) – artista francês
2 Viver é desenhar sem borracha.
Millôr Fernandes – desenhista, humorista e escritor brasileiro
3 Desenhar é colocar uma linha em torno de uma ideia.
Henri Matisse – artista francês
4 Para desenhar, você precisa fechar os olhos e cantar. Picasso – artista espanhol
5 Desenhar leva tempo. Uma linha contém tempo.
David Hockney – artista inglês
6 Meus desenhos são feitos para serem vistos e não falados.
Mira Schendel – artista suíça radicada no Brasil
SESC – SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidente do Conselho Regional
Abram Szajman
Diretor do Departamento Regional
Luiz Deoclecio Massaro Galina
Superintendências
Técnico-Social Rosana Paulo da Cunha
Comunicação Social Ricardo Gentil
Administração Jackson Andrade de Matos
Assessoria Técnica e de Planejamento Marta Raquel Colabone
Assessoria Jurídica Carla Bertucci Barbieri
Gerências
Artes Visuais e Tecnologia Juliana Braga de Mattos Estudos e Desenvolvimento
João Paulo Leite Guadanucci Artes Gráficas Rogerio Ianelli Atendimento e
Relacionamento com Públicos Patrícia Piquera Vianna
ALMANAQUE FESTA!
Coordenação Enio Silva, Filipe Luna e Tatiana Fujimori
Equipe Sesc
Adriano Alves Pinto, Antônio Carvalho, Célia Harumi, Chiara Regina Peixe, Diogo de Moraes, Érica Dias, Erika Kogui, Fabiana Delboni, Felipe Calixtre, Gabriela Borsoi, Giovana Suzin, Jéssica Rampim, Karina Camargo Leal, Karla Hamabata, Laura Andreato, Lizandra Magalhães, Marcela Puppato, Márcia Lemos, Miguel Alonso, Naiara Sacilotto, Priscila Oliveira, Sergio Segal, Silvia Eri Hirao, Tatiana Zacariotti, Ubiratan Nunes Rezende, Wendell de Lima Vieira
Coordenação Editorial Lote 42 (Cecilia Arbolave e João Varella) Produção de Textos Cristiane Teixeira, Carine Savietto e Daniel Furuno Projeto Gráfico, Direção de Arte, Diagramação e Identidade Visual Naíma Almeida Ilustração de capa Amanda Lobos Ilustrações Amanda Lobos, Fer Rodrigues, Herbert Loureiro, Rafael Nobre e Thiago Modesto Consultoria de Jogos Zebra 5 (Alberto Duvivier, Stella Ramos e Auber Bettinelli) Fotografia Luís Gomes Revisão José Américo Justo
© Sesc São Paulo, 2025.
Todos os direitos reservados.
Reimpressão atualizada da 1ª edição do Almanaque FestA! Tiragem: 18.850 exemplares

ACOMPANHE A PROGRAMAÇAO DE CURSOS E OFICINAS QUE AS UNIDADES OFERECEM COTIDIANAMENTE:
14 BIS
Rua Doutor Plínio Barreto, 285
São Paulo – SP – 01313-020
24 DE MAIO
Rua 24 de Maio, 109 São Paulo – SP – 01041-001
AVENIDA PAULISTA
Av. Paulista, 119
São Paulo – SP – 01311-903
BELENZINHO
Rua Padre Adelino, 1000
São Paulo – SP – 03303-000
BOM RETIRO
Alameda Nothmann, 185
São Paulo – SP – 01216-000
CAMPO LIMPO
Rua Nossa Senhora do Bom Conselho, 120
São Paulo – SP – 05763-470
CARMO
Rua do Carmo, 147
São Paulo – SP – 01019-020
CASA VERDE
Av. Casa Verde, 327
São Paulo – SP – 02519-000
CENTRO DE PESQUISA E FORMAÇÃO
Rua Doutor Plínio Barreto, 285 – 4º andar
São Paulo – SP – 01313-020
CINESESC
Rua Augusta, 2075
São Paulo – SP – 01413-000
CONSOLAÇÃO
Rua Dr. Vila Nova, 245
São Paulo – SP – 01222-020
FLORÊNCIO DE ABREU
Rua Florêncio de Abreu, 305 – 315
São Paulo – SP – 01029-000
GALERIA
Praça Ramos de Azevedo, 131
São Paulo – SP – 01037-010
GUARULHOS
Rua Guilherme Lino dos Santos, 1.200
Guarulhos – SP – 07190-010
INTERLAGOS
Av. Manuel Alves Soares, 1100
São Paulo – SP – 04821-270
IPIRANGA
Rua Bom Pastor, 822
São Paulo – SP – 04203-000
ITAQUERA
Av. Fernando do Espírito Santo A. de Mattos, 1000
São Paulo – SP – 08265-045
MOGI DAS CRUZES
Rua Rogerio Tacola, 118
Mogi das Cruzes – SP – 08780-720
OSASCO
Travessa Gilmar de Franca Crispim, 9 Osasco – SP – 06114-175
PINHEIROS
Rua Paes Leme, 195
São Paulo – SP – 05424-150
POMPEIA
Rua Clélia, 93
São Paulo – SP – 05042-000
SANTANA
Av. Luiz Dumont Villares, 579
São Paulo – SP – 02085-100
SANTO AMARO
Rua Amador Bueno, 505
São Paulo – SP – 04752-005
SANTO ANDRÉ
Rua Tamarutaca, 302
Santo Andre – SP – 09071-130
SÃO CAETANO DO SUL
Rua Piauí, 554
São Caetano – SP – 09541-150
VILA MARIANA
Rua Pelotas, 141
São Paulo – SP – 04012-000
INTERIOR E LITORAL
ARARAQUARA
Rua Castro Alves, 1315
Araraquara – SP – 14800-140
BAURU
Av. Aureliano Cardia, 6 – 71
Bauru – SP – 17013-411
BERTIOGA
Rua Pastor Djalma da Silva Coimbra, 20 Bertioga – SP – 11256-085
BIRIGUI
Rua Manoel Domingues Ventura, 121
Birigui – SP – 16203-009
CAMPINAS
Rua Dom José I, 270/333 Campinas – SP – 13070-741
CATANDUVA
Praça Felício Tonello, 228 Catanduva – SP – 15801-321
FRANCA
Av. Doutor Ismael Alonso Y Alonso, 3.071
Franca – SP – 14401-426
JUNDIAI
Av. Antonio Frederico Ozanan, 6600
Jundiaí – SP – 13214-206
PIRACICABA
Rua Ipiranga, 155
Piracicaba – SP – 13400-480
REGISTRO
Av. Prefeito Jonas Banks Leite, 57
Registro – SP – 11900-000
RIBEIRÃO PRETO
Rua Tibiriçá, 50 Ribeirão Preto – SP – 14010-090
RIO PRETO
Av. Francisco das Chagas Oliveira, 1333
São José do Rio Preto – SP – 15090-190
SANTOS
Rua Conselheiro Ribas, 136 Santos – SP – 11040-900
SÃO CARLOS
Av. Comendador Alfredo Maffei, 700
São Carlos – SP – 13560-649
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Av. Dr. Adhemar de Barros, 999
São José dos Campos – SP – 12245-010
SOROCABA
Rua Barão de Piratininga, 555 Sorocaba – SP – 18030-160
TAUBATÉ
Av. Eng. Milton de Alvarenga Peixoto, 1264 Taubaté – SP – 12052-230
THERMAS DE PRESIDENTE PRUDENTE
Rua Alberto Peters, 111 Presidente Prudente – SP – 19060-310
sescsp.org.br