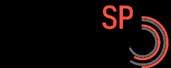pesquisafapesp
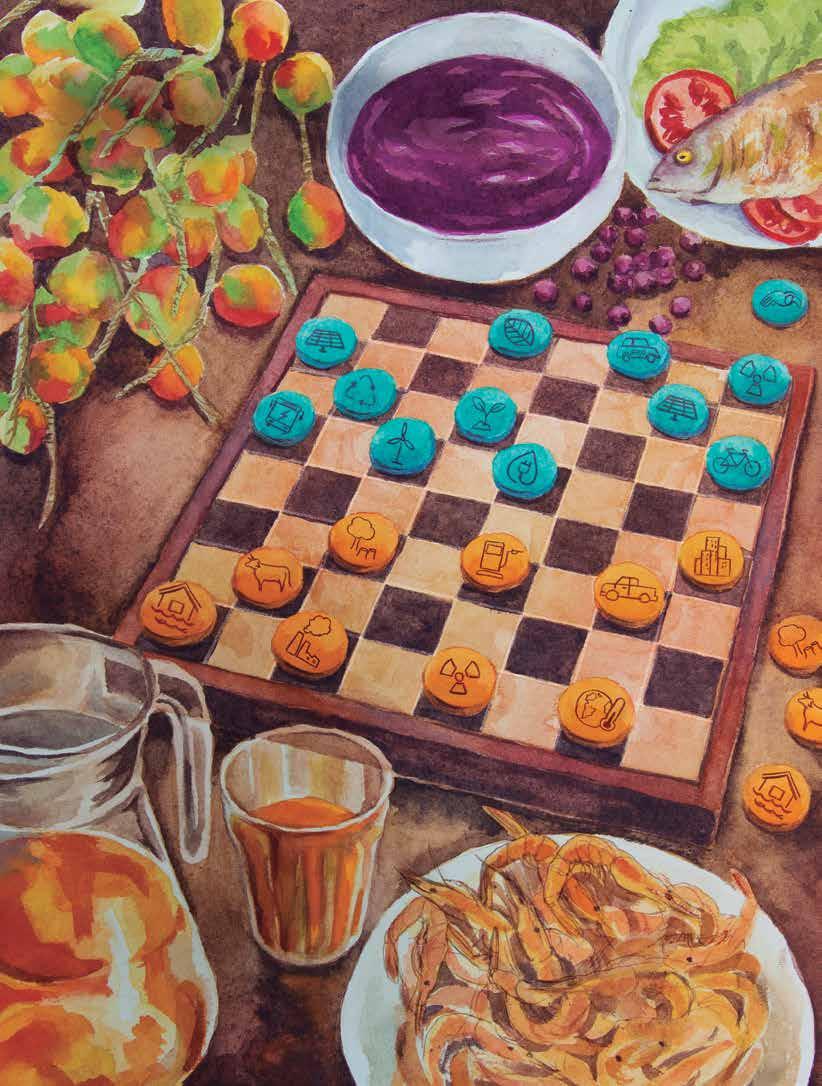

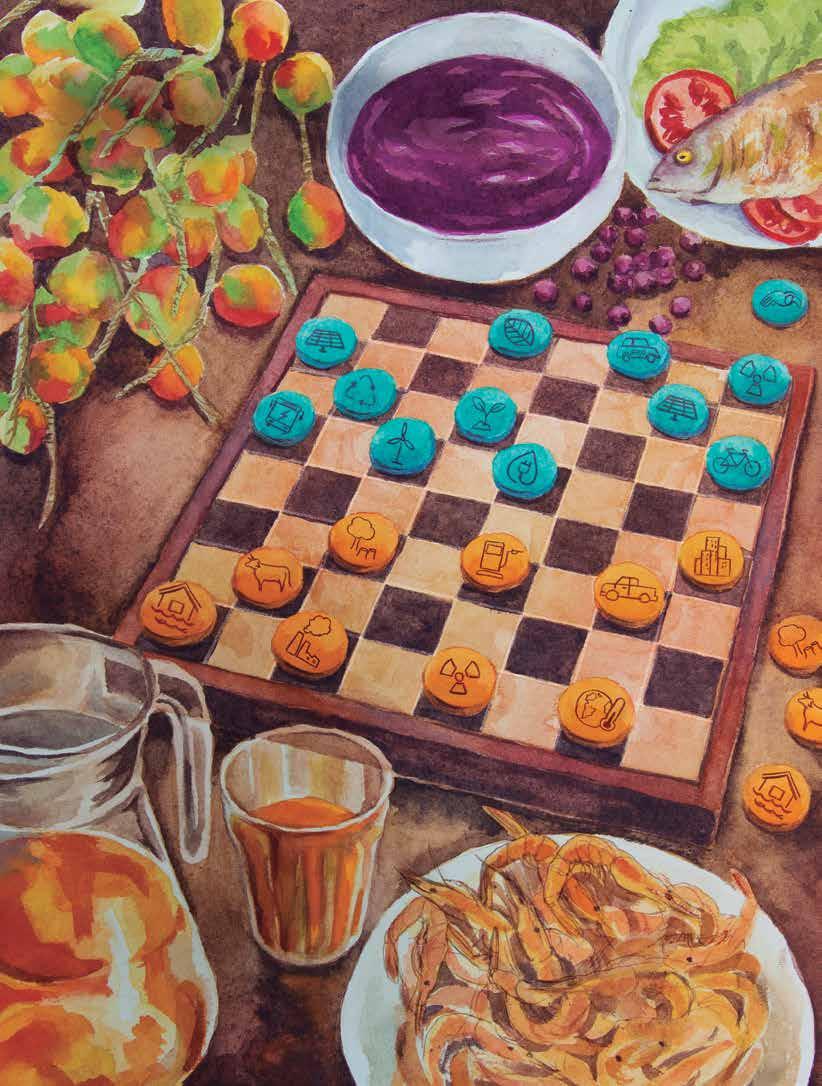
Na Amazônia, COP30 discute como reduzir emissões, ampliar uso de energia limpa e assegurar recursos para ações climáticas
Com milho, trigo e sorgo, usinas diversificam produção de etanol no país
Comunidades periféricas e povos tradicionais propõem novas cartografias
Rede vai gerar e refinar indicadores estaduais de ciência e tecnologia
Biólogos defendem a preservação de práticas culturais de animais
Revoltas como a dos Malês aumentaram a repressão contra os escravizados
ciência para os seus ouvidos

Spotify
Apple podcasts
Deezer
Um programa novo toda semana.
Ouça em sua plataforma favorita.


revistapesquisa.fapesp.br/podcasts
RÁDIO USP
FM 93,7 (São Paulo)
FM 107,9 (Ribeirão Preto) Sextas-feiras, às 13h
RÁDIO UNICAMP (www.sec.unicamp.br) Segundas-feiras, às 13h
RÁDIO UNESP
FM 105,7 (Bauru) Quartas-feiras, às 20h Reapresentação aos domingos, às 16h
Colônias de coral-de-fogo em Maragogi (AL): espécie sofre com o aumento da temperatura (TURISMO, P. 28)

CAPA
12 COP30 busca metas mais ambiciosas para reduzir emissões e aumentar o financiamento climático
18 Em 30 anos, a reunião sobre o clima se tornou a maior conferência anual da ONU
ENTREVISTA
20 Especialista em incêndios florestais, a geógrafa Ane Alencar defende que a pauta ambiental não é ideológica
ECOLOGIA
26 Consumo de gás do aquecimento global faz árvores grandes da região Norte crescerem mais
TURISMO
28 Eventos extremos podem impactar as viagens a lazer –e vice-versa
ENTREVISTA
32 Nana Klutse, climatologista de Gana, relata os impactos das mudanças climáticas na África
COOPERAÇÃO
36 Expedições científicas da Iniciativa Amazônia+10 saem a campo
INDICADORES
40 Rede busca produzir métricas estaduais comparáveis de ciência e tecnologia
ENTREVISTA
44 Vencedor do Prêmio José Reis, o físico Luís Carlos Crispino, da UFPA, fala de popularização da ciência
BOAS PRÁTICAS
46 Jornalistas de ciência privilegiam publicações de revistas consagradas
DADOS
49 Digitalização avança na indústria brasileira
NOBEL
50 Premiação destaca pesquisas que abrem possibilidades tecnológicas
ETOLOGIA
54 Práticas culturais de animais, como dialetos de vocalizações, devem ser conservadas
EVOLUÇÃO
58 Estudo detalha quando é melhor se camuflar ou exibir coloração de alerta
ZOOLOGIA
60 Chifres, garras e pinças gigantes de artrópodes ajudam a regular a temperatura do corpo
ANATOMIA
62 Neurocientistas completam trabalho de pesquisadora sobre comunicação entre os hemisférios do cérebro
PALEONTOLOGIA
64 Oásis na região do atual Rio Grande do Sul protegeu plantas e animais, há 260 milhões de anos
ENGENHARIA AGRONÔMICA
66 Milho, trigo e sorgo diversificam a produção de etanol no país
MEDICINA
70 Pesquisadores brasileiros criam dispositivo que simula pulmão e nódulos
AMBIENTE
72 Soluções inovadoras permitem aprimorar a gestão e o manejo de árvores urbanas
GEOGRAFIA
76 Populações vulneráveis e comunidades tradicionais utilizam novas cartografias
HISTÓRIA
82 Revoltas no século XIX aumentaram a repressão contra os escravizados
OBITUÁRIOS
86 Amílcar Tanuri (1958-2025)
88 Henrique Lins de Barros (1947-2025)
MEMÓRIA
90 No século XIX, o médico Nina Rodrigues tentou explicar a criminalidade por meio de traços físicos
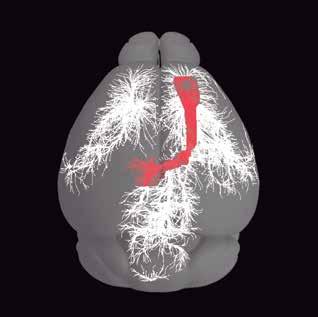
ITINERÁRIOS DE PESQUISA
94 A pedagoga Patrícia Rosas cresceu em lixão e criou projeto para crianças na Paraíba
RESENHA
96 Estranhezas do século romântico: Gonçalves Dias, Sousândrade, Gonçalves de Magalhães, de Cilaine Alves Cunha. Por Wilton José Marques
97 COMENTÁRIOS
98 FOTOLAB
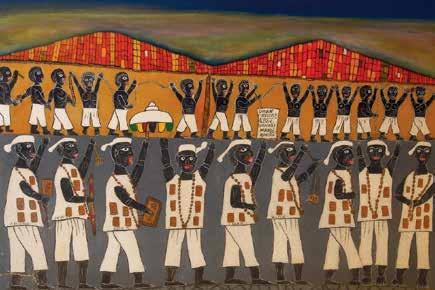
WWW.REVISTAPESQUISA.FAPESP.BR

VÍDEOS
FEMINICÍDIO: O QUE É
E POR QUE ESSE CRIME EXIGE
UMA LEI ESPECÍFICA?
Vídeo explica o conceito, mostra números alarmantes no Brasil e aborda falhas na proteção das mulheres

O RENASCIMENTO DO PALÁCIO GUSTAVO CAPANEMA
Um dos marcos da arquitetura modernista nacional reabre suas portas ao público no Rio de Janeiro após seis anos de obras e restauração

PODCAST
A SEDUÇÃO DOS RANKINGS ACADÊMICOS
Podcast discute a influência das listas das melhores universidades sobre a forma como as instituições de ensino superior se relacionam com a sociedade. E mais: vírus com cauda; Ferradura Cósmica; gases de efeito estufa
Este conteúdo está disponível em acesso aberto no site www.revistapesquisa.fapesp.br, que contém, além de edições anteriores, versões em inglês e espanhol e material exclusivo
Por exigir decisões consensuais, as conferências das partes (COP) da ONU sobre as mudanças climáticas costumam ser de muita conversa e negociação. A cada ano é sediada em uma cidade, o que traz uma cor local ao diálogo (como interpretada pelo ilustrador Gidalti Jr. na capa desta edição). Com uma pauta urgente e complexa, a COP30 chega a Belém em busca de metas mais ambiciosas de redução das emissões de gases de efeito estufa. Outro desafio é a ampliação dos recursos destinados ao chamado financiamento climático, para custear a transição energética ao baixo carbono e adaptar os países aos efeitos do aquecimento global ( página 12).
Essa é a primeira COP no Brasil, mas o país sediou a Rio92, um marco das reuniões internacionais sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentável ( página 18). Uma de suas deliberações foi o estabelecimento de um tratado multilateral, a convenção do clima da ONU, da qual a COP é a principal reunião anual. A primeira edição ocorreria três anos depois, em Berlim.
Assegurar mais financiamento no contexto geopolítico atual, em que países ricos estão voltados para si, não é fácil, avalia a geógrafa paraense Ane Alencar ( página 20). Tida por muitos como uma pauta ideológica, a polarização da questão ambiental também dificulta a missão. “Para uma parte da sociedade, esses temas não são vistos como questões a serem resolvidas”, afirma a diretora de ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam), ONG fundada há 30 anos em Belém.
A climatologista Nana Klutse, de Gana, que esteve no Brasil para a 17ª Conferência Geral da Academia Mundial de Ciências (TWAS), reforça a necessidade de colaboração entre as nações. “Temos um único planeta e a atividade de cada país afeta os demais” ( página 32).
A ciência trouxe os dados que fundamentaram a construção dos consensos já alcançados nas COP, e cientistas seguem produzindo conhecimento relevante em inúmeras frentes dessa ampla temática. Um exemplo, nesta edição, é a constatação de que as árvores na região amazônica estão maiores, tendo crescido em média 3,3% por década nos últimos 30 anos. Essa descoberta torna ainda mais imprescindível o serviço ecossistêmico que prestam, armazenando carbono ( página 26 ).
Muito conhecimento novo deve resultar de 22 expedições científicas financiadas pela iniciativa Amazônia+10, uma articulação entre as fundações de amparo à pesquisa dos nove estados da região mais a FAPESP. Esse arranjo hoje inclui um grande número de instituições e agências de fomento do Brasil e exterior, com mais de 700 pesquisadores dedicados a coletar dados, espécimes biológicos e minerais e registros culturais, que começam a sair a campo ( página 36 ).
Um objetivo de expedições científicas amazônicas é, há séculos, a produção de mapas. Propostos como representações científicas da realidade, historicamente funcionam como instrumentos políticos. Um movimento global chamado virada espacial ou cartográfica questiona sua natureza e função. Sem abrir mão da ciência, mas transcendendo sua suposta objetividade, esse modo de concepção de mapas identifica redes de relações socioespaciais, entre outros pontos ( página 76 ).
Um exemplo é o mapa feito pelo povo indígena Borari, com apoio técnico da Universidade Federal do Oeste do Pará, para processo de demarcação de terras, que incluiu rios, trilhas e áreas sagradas que não constavam da cartografia estatal. Além disso, há nesse movimento uma dimensão artística e simbólica, que vê os mapas como plataformas para criação de novos mundos.
Treinamento físico afeta de forma diferente nervos em cada lado do coração

1
Além de fortalecer o coração, exercícios aeróbicos moderados frequentes alteram os nervos (conjuntos de fibras, formadas pelos prolongamentos dos neurônios) que o controlam, de acordo com um estudo das universidades de Bristol, no Reino Unido, de São Paulo (USP) e Federal de São Paulo (Unifesp). A pesquisa mostrou ainda que o treinamento físico afeta de forma diferente os nervos em cada lado do coração. Ratos treinados ao longo de 10 semanas apresentaram cerca de quatro vezes mais neurônios no grupo cardiovascular do lado direito do corpo do que no esquerdo, em comparação com ratos não treinados. Por outro lado, os neurônios do lado esquerdo quase dobraram de tamanho, enquanto os do lado direito diminuíram ligeiramente. “Esses grupos nervosos agem como um interruptor de regulagem de intensidade do coração”, comentou Augusto Coppi, da Universidade de Bristol, em um comunicado. “A descoberta aponta para um padrão esquerdo-direito anteriormente oculto no sistema de piloto automático do corpo, que ajuda o coração a funcionar.” Segundo ele, as descobertas sobre essa divisão entre esquerda e direita podem vir a ser usadas para tratar com mais eficácia uma série de problemas, como batimentos cardíacos irregulares e dor no peito ( Autonomic Neuroscience, 24 de setembro).
Com a ratificação, no final de setembro, de Serra Leoa e Marrocos, o Tratado do Alto-mar atingiu o número necessário de 60 países para se tornar lei internacional. O documento estabelece um marco legal para estender as faixas de proteção ambiental a águas internacionais, que se encontram além da jurisdição de qualquer país, por meio da criação de áreas marinhas protegidas e da restrição à sobrepesca e à mineração em alto-mar. O Brasil ainda não ratificou o tratado, embora seja um dos 126 países que o assinaram. Em setembro, a Câmara dos Deputados e o Senado aprovaram o Projeto de Decreto Legislativo (PDL 653/2025), que incorpora o tratado ao ordenamento jurídico brasileiro; o texto aguarda a promulgação presidencial. Adotado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2023, o tratado deverá entrar em vigor em janeiro, após quase 20 anos de negociações diplomáticas. O alto-mar começa a 200 milhas (321 quilômetros) das linhas costeiras e representa patrimônio comum da humanidade. A regulamentação para essa vasta área era considerada insuficiente (Inside Climate News, 27 de setembro; Nature, 3 de outubro).

A Midnight atingiu uma altitude de 2,1 km
A Midnight, uma aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical (eVTOL), construída pela empresa norte-americana Archer Aviation, fez seu voo mais alto, ao atingir uma altitude de 2.100 metros (m) durante um percurso de 72 km, a uma velocidade máxima de 193 quilômetros por hora (km/h). O resultado, se confirmado em outros testes, permitiria voos em cidades com muitos edifícios altos. Em desenvolvimento também em outras empresas, como a brasileira Embraer (ver Pesquisa FAPESP n° 351 ), aparelhos desse tipo são projetados para operar em faixa entre 450 e 1.200 m, abaixo da faixa dos aviões comerciais, que voam a altitudes entre 9 mil e 13 mil metros acima do nível do mar. Alimentada por baterias com células de íons de lítio, a Midnight havia feito em agosto seu voo mais longo, de 86 km, em 31 minutos, a uma velocidade de até 203 km/h. Os resultados dos testes poderiam facilitar a obtenção da autorização da Administração Federal de Aviação (FAA) para operar no sistema aéreo dos Estados Unidos (LiveScience, 1º de outubro).
Em julho de 2023, ao caminhar em área de mata próxima a Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo, um homem de 37 anos e seu cão foram picados por carrapatos-estrela ( Amblyomma ovale) infectados pela bactéria Rickettsia parkeri. Seis dias depois, o homem desenvolveu sintomas gripais e uma lesão vermelha no tornozelo, onde havia sido picado. A lesão evoluiu nos dias seguintes. Na primeira consulta em uma unidade de saúde, recebeu apenas a recomendação de uso de um anti-inflamatório. Quase um mês depois, sem melhora, voltou e recebeu outra medicação, também sem resultados. Somente na terceira visita, exames laboratoriais revelaram alterações compatíveis com infecção por Rickettsia, porém sem diagnóstico para a doença. O tratamento com um antibiótico eliminou os sintomas. O episódio foi registrado como o primeiro caso confirmado por métodos moleculares de febre maculosa causada por R. parkeri no litoral paulista, confirmado por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) e da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP). Foi também o sexto registro da doença no país. O cão exposto aos mesmos carrapatos permaneceu assintomático e não precisou de tratamento (Zoonotic Diseases, 15 de setembro).

O carrapato-estrela, transmissor de Rickettsia parkeri
Uma equipe da Universidade RMIT, da Austrália, combinou a durabilidade da taipa – uma técnica de construção de paredes que utiliza barro amassado para preencher os espaços criados por grades de varas ou bambus –com a versatilidade do papelão, criando um material reutilizável composto de papelão, água e terra. Segundo os pesquisadores, o novo material, chamado de taipa confinada com papelão, elimina a necessidade de cimento e apresenta um quarto da pegada de carbono e menos de um terço do custo do concreto. “Usando simplesmente papelão, solo e água, podemos construir paredes robustas o suficiente para suportar edifícios baixos”, disse Jiaming Ma, da RMIT, em um comunicado da universidade. A taipa confinada em papelão poderia ser produzida no canteiro de obras, compactando a mistura de solo e água dentro da fôrma de papelão, manualmente ou com máquinas. Para Ma, essa pode ser uma solução eficaz para a construção em áreas remotas, com abundância de solos vermelhos, ideais para construções com taipa, uma técnica ainda bastante usada no mundo. A resistência mecânica do novo material varia de acordo com a espessura dos tubos de papelão (Structures, outubro).

Com vistosas flores amarelas, o tojo se espalha com a ajuda de abelhas e formigas

Tubo vazio de papelão, com taipa confinada e com cobertura de polímero reforçado com fibra de carbono
Botânicos do Rio Grande do Sul e do Espírito Santo descobriram que alianças com pequenos insetos permitiram a uma espécie invasora, o tojo (Ulex europaeus), espalhar-se em meio aos campos de altitude, a vegetação baixa típica de serras, na região Sul do Brasil. Originária da Europa Ocidental, essa planta – um arbusto com espinhos, vistosas flores amarelas e até 2 metros – floresce de maio a novembro, principalmente em agosto. Nos meses mais frios, a abelha Apis mellifera poliniza apenas essa espécie, já que nenhuma outra floresce nessa época. Formigas nativas, como a quem-quem-preto-brilhante ( Acromyrmex ambiguus), carregam sementes e contribuem para a dispersão da espécie. Introduzida na Nova Zelândia como cerca viva, logo se tornou uma praga. Já encontrada em 15 países da Europa, Ásia, África e Américas, é considerada uma erva daninha e disputa espaço com as espécies nativas ( Acta Botanica Brasilica, maio). Um relatório da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos (BPBES) registrou 476 espécies exóticas invasoras no país, das quais 268 são de animais e 208 de plantas e algas (ver Pesquisa FAPESP n° 338).
Por meio de decreto publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, nomeou três novos membros do Conselho Superior da FAPESP: Felipe Ferreira Guimarães Figueiredo, Franklim Shunjiro Nishimura e Carlos Gilberto Carlotti Junior. Figueiredo, graduado em administração pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais Ibmec, é CEO da Comgás, empresa distribuidora de gás natural encanado. Nishimura, formado em administração pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), é presidente do Conselho de Sócios e membro do Conselho de Administração do Grupo Jacto, empresa que atua em diversos segmentos do agronegócio, e preside o Conselho Curador da Fundação Shunji Nishimura de Tecnologia (FSNT), voltada à educação e inovação para o agronegócio. Carlotti Junior, formado em medicina pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP), é reitor da USP desde 2022. Eles terão um mandato de seis anos e substituirão Pedro Passos, Mayana Zatz e Mozart Neves Ramos ( Agência FAPESP, 14 de outubro).
O peixe-olho-dourado, o peixe-olho-de-pinta-mancha, o peixe-lua-preto, o peixe-lua-azul, o achigã-boca-grande e outros estão se reproduzindo no rio Chicago, nos Estados Unidos, antes muito poluído, indicando que os esforços de limpeza estão funcionando. De 2020 a 2022, o biólogo Austin Happel, do Aquário Shedd, da mesma cidade, coletou 2.211 larvas de peixes de 24 espécies, identificadas por sequenciamento genético. Peixes tolerantes à poluição eram mais comuns no ramo Norte, enquanto o Sul abrigava um número maior de espécies intolerantes, como resultado da vegetação submersa, qualidade da água e proteção contra predadores, oferecida pelos atracadouros de barcaças não utilizados. Com 250 quilômetros, o rio atravessa a cidade de Chicago. A qualidade de sua água melhorou bastante com uma lei de 1972 e a atuação de organizações como Amigos do Rio Chicago, Openlands e Rios Urbanos. Os pesquisadores já haviam identificado quase 60 espécies de peixes vivendo no rio, mas ainda não sabiam quantos desovavam em suas águas (Journal of Great Lakes Research, 17 de setembro; Smithsonian Magazine, 22 de setembro).

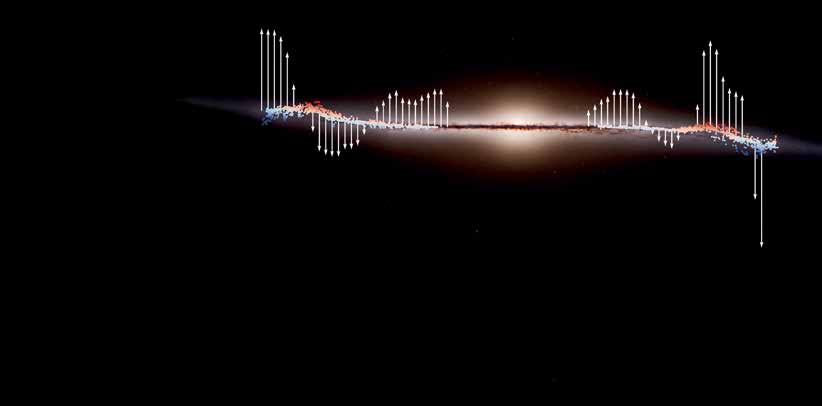
Onda gigante empurra estrelas nas bordas da Via Láctea
O telescópio espacial Gaia, da Agência Espacial Europeia, descobriu que uma onda gigante está empurrando milhares de estrelas situadas entre 30 mil e 65 mil anos-luz de distância do centro da Via Láctea. A onda age como uma pedra lançada em um lago, fazendo com que as oscilações se espalhem, em movimentos horizontais ou verticais. Astrônomos da Itália, França, Alemanha e Estados Unidos rastrearam esse movimento estudando as posições de estrelas gigantes jovens e estrelas Cefeidas, cujo brilho varia de forma previsível. O sobe e desce das estrelas poderia estar relacionado a um movimento ondulante a 500 anos-luz do Sol, a chamada Onda de Radcliffe, que se estende por mais de 9 mil anos-luz ( Astronomy and Astrophysics, julho).
As setas indicam a direção e a extensão do movimento das estrelas nas bordas da Via Láctea, vista de perfil
A formiga-colheitadeira-ibérica (Messor ibericus) exibe um fenômeno raríssimo: as fêmeas produzem filhotes machos não só da própria espécie, mas também de outra, M. structor. De acordo com um estudo liderado pelas universidades de Montpellier e Lille, na França, e de Lausanne, na Suíça, o acasalamento com machos de M. ibericus produzirá a próxima geração de rainhas, enquanto o com os de M. structor, que também vivem na colônia, resultará em mais operárias, que, portanto, serão híbridas. Isso é possível porque, ao fertilizar seu óvulo, a rainha elimina seu próprio DNA nuclear e usa seu óvulo como recipiente exclusivo para o DNA dos machos de M. structor. Os filhotes machos exibem genomas distintos, embora com o mesmo DNA mitocondrial da rainha; externamente, o que os distinguem à primeira vista são os pelos, mais abundantes em M. ibericus. O resultado é uma maior diversidade na colônia sem a necessidade de uma espécie selvagem vizinha para acasalar. As duas espécies divergiram uma da outra há mais de 5 milhões de anos. As populações selvagens de M. structor mais próximas vivem a mais de mil quilômetros da ilha da Sicília, na Itália, onde a outra espécie é mais comum (Nature, 9 de outubro).

Machos de M. ibericus (à dir.) e M. structor convivem na mesma colônia
Em janeiro de 2023, o Museu Mütter, nos Estados Unidos, voltado à história da medicina, lançou o projeto Postmortem, para debater a melhor forma de expor os restos mortais humanos do próprio acervo –como crânios, gêmeos siameses e um coração dilatado –, em geral adquiridos sem o consentimento e apresentados sem a identidade dos pacientes. Como parte da reavaliação, o museu excluiu 400 vídeos de seu canal do YouTube e uma exposição digital de seu site. Dois anos depois, a instituição anunciou que os restos mortais a serem expostos deveriam contextualizar sua história e procedência em vez de serem expostos anonimamente. O projeto Postmortem estabeleceu as condições em que imagens e vídeos da coleção de restos mortais humanos poderão ser usados para fins científicos, educativos ou expositivos. Sob essas novas diretrizes, o canal do YouTube voltará ao ar. As mudanças já começaram: um intestino gigante de um homem, antes identificado apenas com as iniciais JW, agora contém informações sobre a história de vida de seu doador, Joseph Williams. Criado em 1863 a partir da coleção pessoal do cirurgião Thomas Mütter (1811-1859), o museu conta com um acervo de 35 mil peças, incluindo instrumentos médicos, e recebe cerca de 130 mil visitantes por ano (AFP e Museu Mütter, 28 de agosto).
Brotos de cana-de-açúcar obtidos de plantas que haviam passado por períodos de seca se mostraram capazes de resistir à escassez de água, de acordo com pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e do Instituto Agronômico (IAC), de Campinas. A herança transmitida do material de origem (planta-mãe) para os propágulos (plantas-filha) fez a fotossíntese aumentar 1,5 vez em uma das variedades testadas, quase duplicou o tamanho das raízes, permitiu aumento de até 3,5 vezes na produção de colmos (talos) e aumentou a produção de sacarose em 1,5 vez, em comparação com os propágulos resultantes de plantas que não haviam passado por episódios de seca. Os experimentos em campo e as análises em laboratório mostraram também que a expressão da memória à seca depende da variedade de cana e do estágio de desenvolvimento da planta. “As duas variedades que testamos em campo foram desenvolvidas pelo IAC”, comenta o engenheiro-agrônomo da Unicamp Rafael Vasconcelos Ribeiro, coordenador da pesquisa, iniciada há 11 anos. “Precisamos agora avaliar e explorar os benefícios da memória em outras variedades” (Plant Science, outubro).

Brotos herdam da planta-mãe capacidade de se adaptar à escassez de água
Representação artística do aparelho em construção no Chile

Em construção no Chile, o Giant Magellan Telescope (GMT), que tem a FAPESP como um dos seus sócios-fundadores desde 2014, ganhou um novo parceiro: o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). A instituição norte-americana repassou para o GMT uma doação privada de valor não divulgado e tornou-se o 16º membro do consórcio internacional que coordena o empreendimento. Orçado em US$ 2,6 bilhões, o supertelescópio de 25,4 metros terá uma área coletora de luz 10 vezes maior e umaresolução espacial quatro vezes superior à do James Webb, hoje o mais avançado instrumento de observação cósmica. O GMT deverá ser capaz de observar objetos celestes muito antigos, como a primeira geração de estrelas e galáxias, e até exoplanetas. Cerca de 40% da construção do GMT, no qual foi investido até agora US$ 1 bilhão, já foi concluída. A previsão é de que entre em operação na próxima década. Desde sua entrada no consórcio, a FAPESP destinou US$ 50 milhões ao GMT e os pesquisadores do estado de São Paulo deverão ter acesso a 4% do tempo de observação do instrumento.
Após examinar 54 cadáveres, arqueólogos da Universidade Nacional Australiana encontraram no Sudeste Asiático múmias humanas pelo menos 7 mil anos mais antigas que as egípcias. De 12 mil a 4 mil anos atrás, caçadores-coletores no sul da China, Sudeste Asiático e em ilhas próximas, incluindo Bornéu e Java, amarravam os mortos em posturas agachadas e então secavam lentamente os corpos em fogueiras com fumaça e baixa temperatura por vários meses, antes do sepultamento. A exposição contínua à fumaça mumificava a pele dos cadáveres, evitando que os esqueletos se desintegrassem. A mesma técnica ainda é adotada nas áreas montanhosas da ilha de Nova Guiné, na Indonésia. O povo Chinchorro, que viveu no norte do atual Chile e sul do Peru entre 7 mil e 1.500 a.C., desenvolveu técnicas de mumificação há cerca de 7 mil anos, removendo os órgãos internos antes de deixar os corpos para secar no deserto. O uso de resinas e outras substâncias de embalsamamento pelos egípcios para mumificar os mortos surgiu há cerca de 6,3 mil anos (Science News e PNAS, 15 de setembro).
Um dos esqueletos com 12 mil a 14 mil anos desenterrados no sul da China 3

COP30 busca metas globais mais ambiciosas para reduzir as emissões e aumentar o financiamento climático
MARCOS PIVETTA

Dois grandes temas interligados devem nortear os debates e as negociações sobre como conter as mudanças climáticas e se adaptar aos seus impactos durante a 30ª Conferência das Partes, a COP30, que se realizará em Belém de 10 a 21 de novembro. São as novas metas de emissões de gases de efeito estufa (GEE), que aquecem o planeta, e a ampliação do valor destinado ao financiamento climático voltado para os países em desenvolvimento.
O primeiro ponto diz respeito ao cerne do Acordo de Paris, o principal tratado internacional que busca limitar o aquecimento global a no máximo 2 graus Celsius (ºC), preferencialmente a 1,5 ºC, em relação aos níveis da sociedade pré-industrial, da segunda metade do século XIX. Até meados de outubro, apenas 62 países, menos de um terço dos signatários do acordo (o Brasil entre eles),
tinham apresentado oficialmente novas metas voluntárias para reduzir, até 2035, suas emissões de gases de efeito estufa (GEE). Essas metas são denominadas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDC).
Embora os Estados Unidos, historicamente o maior emissor de GEE, tenham apresentado sua NDC atualizada em 2024, ainda no governo de Joe Biden, é incerto que representantes do país estejam em Belém. O atual presidente, Donald Trump, defensor de uma economia baseada em combustíveis fósseis, anunciou neste ano a saída do país do Acordo de Paris.
Cerca de 70% das emissões de GEE que causam o aquecimento global decorrem do uso de combustíveis fósseis como petróleo, gás natural e carvão mineral. As atividades agropecuárias e as mudanças no uso da terra, como o corte de florestas para abrir áreas para pastos e lavouras, são responsáveis pela produção de aproximadamente

20% do total de gases que aquecem a atmosfera. No Brasil, a figura é invertida, por volta de 70% das emissões estão associadas a mudanças no uso da terra e atividades da agropecuária.
Sem o envolvimento da maior economia do planeta, a situação atual se torna ainda mais desafiadora. Um relatório de outubro do ano passado das Nações Unidas estima que as emissões globais até 2030 teriam de diminuir 42% em relação ao nível de 2019 para que o aquecimento planetário não ultrapassasse 1,5 ºC. Se o prazo de referência fosse estendido até 2035, a queda teria de ser de 57%. Ainda antes do início da COP30, novas análises sobre o status das mais recentes NDC devem ser divulgadas.
“Nós começamos em 1992 [durante a Cúpula da Terra, no Rio de Janeiro] dizendo que era preciso pensar global e agir localmente. Agora, isso não é mais possível”, disse Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Brasil,
1,3 trilhão de dólares por ano é o montante pleiteado pelos países em desenvolvimento para o financiamento climático
em entrevista coletiva após evento em Brasília preparatório para a COP30. “Os extremos climáticos já exigem que governos e todos nós tenhamos que agir local e globalmente, tanto em recursos quanto em tecnologia e solidariedade. A mudança do clima não tem fronteira.”
A segunda questão de fundo da COP30 é o volume insuficiente de financiamento internacional disponível para ajudar os países em desenvolvimento a custear sua transição para uma economia de baixo carbono, com um grau pequeno de emissões de GEE e adoção de fontes de energia limpa, e a se adaptarem às mudanças climáticas. Em novembro passado, ao final da COP29, em Baku, no Azerbaijão, houve um acordo que elevou o valor do repasse anual dos países desenvolvidos aos em desenvolvimento para US$ 300 bilhões, o triplo do que era previsto até então. O montante, no entanto, ainda está distante do US$ 1,3 trilhão por ano pleiteado pelas nações mais pobres.
Opresidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, admitiu, em meados de outubro, em entrevista para a CNN Brasil, que esse patamar de financiamento não será atingido em Belém. Disse que é difícil, mas possível que os bancos multilaterais aumentem em duas ou três vezes sua capacidade de empréstimos com essa finalidade e que o setor privado multiplique por 25 vezes os investimentos climáticos nos países em desenvolvimento.

ro captado por esse mecanismo seria destinado a populações indígenas e comunidades locais que moram nas florestas, de acordo com a proposta.
Nenhum dado concreto indica que um corte pela metade nas emissões, como preconizado por diversos estudos, esteja a caminho no curto prazo. Ao contrário. São raros os anos, como durante o auge da pandemia de Covid-19 em 2020, em que a economia mundial não bateu recorde na liberação de dióxido de carbono (CO₂), metano (CH₄) e óxido nitroso (N₂O), a trinca de compostos que constitui a quase totalidade dos gases de efeito estufa (ver gráfico na página 15).
Mar de painéis solares em Yinchuan, China, país que puxa o crescimento desse tipo de energia no mundo
No final de setembro, o Brasil lançou a ideia de criar um fundo de investimentos destinado a financiar a preservação das florestas tropicais (TFFF), como a Amazônia e a Mata Atlântica na América do Sul e as densas formações vegetais do Congo e do Sudeste Asiático. O país se comprometeu a depositar cerca de US$ 1 bilhão no TFFF e tem a ambição de levantar US$ 25 bilhões nos próximos anos para o fundo. Um quinto do dinhei-
Boletim divulgado em outubro de 2025 pela Organização Meteorológica Mundial (WMO) aponta que esse trio de gases atingiu níveis inéditos na atmosfera no ano passado. A concentração de CO₂, que tem maior peso no aquecimento global em relação aos outros dois gases, chegou a 423,9 partes por milhão (ppm), 51% a mais do que na era pré-industrial. A velocidade de sua subida, entre 2023 e 2024, foi de 3,5 ppm, a maior desde


As atividades industriais liberam poluentes que esquentam a atmosfera
70% da produção global de gases de efeito estufa se devem à queima de petróleo, gás natural e carvão
Mesmo com os acordos internacionais, a produção anual de gases de efeito estufa continua subindo
1957, quando os registros modernos de gases de efeito estufa tiveram início.
“No melhor dos cenários, é possível que haja uma redução de 3% nas emissões até 2030”, diz o climatologista Carlos Nobre, pesquisador sênior do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (IEA-USP), que já participou de sete COP e estará na capital paraense em novembro. “Mas, no ritmo em que estamos indo, devemos atingir 1,5 ºC de aquecimento de forma permanente daqui a cinco ou dez anos.” Em 2024, o ano mais quente da história recente, a temperatura média do planeta ultrapassou pela primeira vez esse limite. Por ora, em 2025, o aquecimento global está na casa de 1,4 ºC, segundo dados do Serviço de Mudança Climática Copernicus (C3S), da União Europeia.
Nunca ocorreu uma COP no Brasil. Na América Latina, edições passadas da conferência foram sediadas na Argentina (duas vezes), Peru e México. Criada em 1995, a COP é a principal instância anual de discussão e sobretudo de negociação da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC), tratado internacional da área climática de caráter mais amplo no qual se inserem o Acordo de Paris e seu antecessor, o Protocolo de Kyoto. As partes a que faz alusão o nome formal da COP são os países (197), mais o bloco da União Europeia, que têm direito a assento e voz nas tratativas (ver glossário na página 16 ).
A COP em Belém é também a primeira a ser realizada em terras da Amazônia, que abriga a maior floresta tropical do planeta. Ao menos em termos simbólicos, marca um contraponto em relação às duas edições anteriores da conferência, que tiveram lugar em países cuja economia é extremamente dependente da produção de petró-
leo e gás natural. Antes da COP29, em Baku, no Azerbaijão, ocorreu a COP28 em 2023 em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
As dependências físicas que abrigam as COP, como o Parque da Cidade, em Belém, são divididas em duas áreas principais: as zonas azul e verde. A primeira é de acesso restrito, com entrada permitida apenas para as delegações oficiais, chefes de Estado, observadores e imprensa credenciada. A zona verde é administrada pelo país anfitrião e sedia diferentes tipos de eventos e atividades organizadas por segmentos da sociedade civil, empresas e outras entidades, como pavilhões de países ou temáticos, exibições e debates científicos. Também haverá eventos paralelos em outros pontos da capital paraense, denominados informalmente de zonas amarelas. Representantes da FAPESP estarão em Belém em eventos organizados pela Fundação ou por parceiros nas três zonas. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) vai promover a Casa da Ciência no Museu Paraense Emílio Goeldi, onde serão apresentados resultados de pesquisas sobre mudanças do clima.
As decisões nas COP são obtidas por consenso entre os representantes dos países. Não há votações em que uma maioria ganha o pleito e sua visão sobre um tema prevalece. “É um processo lento, mas necessário, que bebe no multilateralismo e depende de negociações”, diz o engenheiro-agrônomo Jean Ometto, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), vice-coordenador da Rede Brasileira de Pesquisas em Mudanças Climáticas Globais (Rede Clima). “As mudanças climáticas são um problema global. Não basta um
Alguns termos e expressões comumente usados nas negociações das COP
ACORDO DE PARIS
Tratado internacional, assinado em 2015, que busca limitar o aquecimento global (quanto a temperatura média do planeta está mais quente em relação aos níveis pré-industriais) a no máximo 2 0C, preferencialmente 1,5 0C
ADAPTAÇÃO
Engloba medidas adotadas com o intuito de reduzir o impacto atual ou futuro de eventos decorrentes das mudanças climáticas, como o aumento do nível do mar, secas e chuvas intensas e falta de comida
CONTRIBUIÇÕES NACIONALMENTE DETERMINADAS (NDC)
São metas de redução de emissões voluntariamente assumidas pelos países no Acordo de Paris. São revisadas a cada cinco anos. É esperado que os países cheguem à COP30 com a terceira versão de suas NDC
CONVENÇÃO-QUADRO
SOBRE A MUDANÇA DO CLIMA (UNFCCC)
Principal tratado internacional que coordena as ações contra as mudanças climáticas, como o Protocolo de Kyoto e seu sucessor, o Acordo de Paris. Criado em 1992 na Cúpula da Terra, no Rio de Janeiro, entrou em vigor em 1994
COP
Literalmente, Conferência das Partes. Desde 1995, é o encontro anual dos signatários da UNFCCC. É o principal organismo decisório e de avaliação das políticas e tratados climáticos globais
JUSTIÇA CLIMÁTICA
Os países ricos emitem muito mais gases de efeito estufa do que as demais nações. É justo, portanto, que ajudem, com dinheiro e tecnologia, os países mais pobres a se adaptar aos efeitos das mudanças climáticas
MITIGAÇÃO
Qualquer ação tomada com o objetivo de reduzir ou evitar a emissão de gases de efeito estufa, como adotar fontes de energia não baseadas em petróleo, gás e carvão, ou de aumentar a retirada de carbono da atmosfera
PARTES
São os 197 Estados nacionais, mais a União Europeia, que assinam a UNFCCC e participam das negociações na COP. Governos subnacionais, empresas, entidades da sociedade civil são denominadas não partes
PROTOCOLO DE KYOTO
Primeiro tratado internacional em que alguns países (apenas os desenvolvidos) tinham metas de redução de emissões. Criado em 1997, entrou em vigor em 2005. Foi sucedido pelo Acordo de Paris, mais abrangente
TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
Substituição progressiva do uso de combustíveis fósseis (petróleo, gás e carvão), que aquecem o planeta, por formas mais limpas de geração de energia, como a solar, a eólica, a hidroelétrica e a geotermal
ou dois países tomarem medidas contra o aquecimento global. Todos têm de fazer sua parte.”
O climatologista José Marengo, coordenador-geral de pesquisa e desenvolvimento do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e membro do conselho de adaptação que serve de apoio à presidência da COP30, define a conferência de uma forma particular. “Não é um encontro sobre o clima”, diz. “É uma conferência de negociação, que pode ocorrer não só durante as reuniões formais, mas no cafezinho e se prolongar madrugada adentro.”
Em meados de outubro de 2025, em entrevista coletiva concedida em Brasília no evento denominado pré-COP, o embaixador Corrêa do Lago comentou que só nos últimos dias da conferência na capital paraense se saberá quais consensos entre os negociadores foram de fato estabelecidos. “As COP têm essa dinâmica de suspense”, disse. Na do ano passado, em Baku, por exemplo, o acordo para elevar o valor do financiamento climático anual para US$ 300 bilhões só foi obtido depois da meia-noite do dia 24 de novembro, mais de 24 horas depois do prazo oficialmente estabelecido para a conferência se encerrar.
“Nas COP, há uma heterogeneidade de visões com relação à velocidade da transição energética e do financiamento para a adaptação”, comenta a matemática Thelma Krug, coordenadora do Conselho Científico da COP30 e integrante do Conselho Superior da FAPESP. “Sabemos que, enquanto houver demanda por petróleo, os países produtores e exportadores vão continuar a extraí-lo. É muito difícil atingir certos consensos.”
Um exemplo desse tipo de desafio, de costurar compromissos internacionais sem dissensos: foi

Quanto a temperatura média anual da superfície terrestre aumentou em relação à da era pré-industrial
SERVIÇO COPERNICUS
Crianças indígenas da Amazônia: comunidades locais devem ter voz na conferência do clima

apenas em 2023, em Dubai, que um texto de consenso produzido durante uma COP admitiu que as mudanças climáticas eram causadas pelo uso de combustíveis fósseis. A ciência já havia concluído isso há muito tempo. Também foi somente na conferência dos Emirados Árabes Unidos que se defendeu, de forma inédita, que era necessário começar uma transição, com a adoção de mais fontes renováveis de energia. No entanto, nenhum prazo para o abandono do emprego de petróleo, gás e carvão foi fixado.
Vários pesquisadores destacam que a questão da adaptação às mudanças climáticas é um tópico que ganhou espaço nas COP mais recentes. “Até uns anos atrás, o foco central das discussões era a mitigação, o que deveria ser feito para reduzir as emissões de gases de efeito estufa”, conta a oceanógrafa Regina Rodrigues, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), que esteve presente nas últimas quatro conferências. “Agora, tanto a mitigação como a adaptação às mudanças climáticas fazem parte da pauta de negociações.”
A pesquisadora explica que havia receio de certos grupos em dar ênfase ao debate sobre medidas destinadas a reduzir os impactos das mudanças climáticas, em especial nos países em desenvolvimento, mais vulneráveis aos seus efeitos. Tal postura poderia ser interpretada como abandono da meta central do Acordo de Paris, que é reduzir as emissões de GEE, a causa do aquecimento global. Mas, como os efeitos dos extremos climáticos se tornaram mais palpáveis nesta década, as ações de mitigação e adaptação passaram a ser vistas, ambas, como necessárias e complementares.
Para Miriam Garcia, gerente sênior de ação climática do WRI Brasil, uma entidade de pesquisa da sociedade civil sediada nos Estados Unidos, há
1,4
°C é o valor médio do aquecimento global verificado até agora neste ano, 0,1 °C a menos do que em 2024
expectativa de que os 100 indicadores da Meta Global de Adaptação (GGA) sejam, enfim, definidos na COP30. Esses parâmetros devem servir de baliza às ações internacionais (e ao financiamento) com o intuito de aprimorar a capacidade de adaptação e resiliência dos países, em especial os mais vulneráveis, às mudanças do clima. Entre as medidas, ainda de caráter genérico, estimuladas pelo GGA, figuram a produção de planos nacionais de adaptação até 2030 e ações para garantir serviços de saúde e acesso à água e alimentos para as populações.
Prevista desde o estabelecimento do Acordo de Paris, em 2015, uma agenda mais detalhada no âmbito da GGA ainda não foi fixada. “A diplomacia brasileira é muito boa e esperamos que ocorra um consenso em Belém capaz de definir esses indicadores”, comenta Garcia, que tem mestrado e doutorado em relações internacionais, com ênfase na questão climática, e já participou como observadora de seis COP.
Uma notícia que pode animar os negociadores da conferência de Belém é que, apesar de a exploração de combustíveis fósseis não ter data marcada para acabar, a transição energética avança mundo afora. Em 2024, foram adicionados mundialmente 582 gigawatts de energia renovável, aumento de 15% em relação ao ano anterior. O valor representa um recorde de crescimento, segundo relatório da presidência da COP30, da Agência Internacional de Energia Renovável (Irena) e da Aliança Global de Renováveis (GRA).
O detalhe não tão positivo é que, para atingir a meta acordada na COP28, em 2023, o setor terá de adicionar 1.122 GW por ano de 2025 a 2030. l
Em 30 anos, a COP se tornou a maior conferência anual das Nações Unidas
MARCOS PIVETTA

OBrasil tem uma relação histórica indireta com a criação da Conferência das Partes (COP), embora Belém seja a primeira cidade nacional a sediar uma edição do encontro anual da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC). Em 1992, a cidade do Rio de Janeiro foi palco de um enorme evento internacional sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentável, às vezes chamado de Cúpula da Terra, Rio92 ou Eco92. Realizada 20 anos após a conferência de Estocolmo, na Suécia, que fora o primeiro evento de peso organizado pelas Nações Unidas para discutir as relações do homem com a natureza, a Rio92 contou com a presença de 103 chefes de Estado ou de governo. Ao final do encontro, alguns documentos e compromissos foram firmados.
Entre as decisões acordadas, figurava a criação de três convenções – tratados internacionais multilaterais sob os auspícios das Nações Unidas, todos em vigor até hoje: uma sobre a diversidade
1 Vista aérea do Parque da Cidade, lugar de Belém que será a sede da COP30
biológica (CDB), outra sobre o combate à desertificação (UNCCD) e uma terceira sobre mudanças do clima, a UNFCCC. Em 1995, ocorreu a primeira conferência anual da convenção do clima, a COP1, em Berlim, na Alemanha. Cerca de 4 mil pessoas participaram da reunião. Um quarto do público era formado por representantes dos países, outro por observadores de entidades da sociedade civil e metade era de jornalistas designados para cobrir o encontro.
Desde então, a COP, que realiza sua trigésima edição em novembro em Belém, tornou-se o principal fórum de debates e sobretudo de negociação entre as 198 partes (197 países mais o bloco União Europeia) que assinaram a convenção do clima. Seu maior legado foi o estabelecimento de dois tratados internacionais que buscam reduzir as emissões de gases de efeito estufa, que causam o aquecimento global.
O primeiro foi o protocolo de Kyoto, criado em 1997, durante a COP3, na cidade homônima japonesa. Esse acordo estabelecia metas de redução das emissões apenas para os países desenvolvidos,
que são grandes produtores de gases de efeito estufa, sobretudo devido à queima de combustíveis fósseis. O segundo tratado é o Acordo de Paris, fechado em 2015 na COP21, segundo o qual todos os signatários da convenção do clima devem apresentar a cada cinco anos metas voluntárias de redução para suas emissões, as chamadas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDC). Na prática, por ser mais amplo, o Acordo de Paris acabou substituindo o protocolo.
“A criação da COP foi importante para reduzir o ritmo de crescimento das emissões, embora muito ainda precise ser feito nesse setor”, diz o engenheiro-agrônomo Jean Ometto, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). “Nos anos 1990, as emissões aumentavam em 2% ao ano e agora estamos em cerca da metade disso.” Para controlar o aquecimento global, as emissões precisam diminuir de forma consistente, não apenas reduzir seu ritmo de crescimento.
Em três décadas de existência, a COP cresceu tanto que hoje é a maior conferência anual organizada pelas Nações Unidas, um organismo internacional que promove eventos sobre os mais diversos temas, como economia, ciência, saúde, imigração, direitos humanos e geopolítica. Em 2023, na COP28 em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, 80 mil pessoas participaram da conferência, um recorde para o evento. A imprensa internacional noticiou que não faltaram lobistas da indústria do petróleo. Na COP seguinte, em Baku, estiveram 54 mil pessoas.
Para alguns pesquisadores, a COP cresceu demais e, por vezes, tornou-se muito chamativa. “Não deve haver grande alarde e coisas do tipo [na COP]. Isso é prejudicial ao processo da ONU”, disse Benito Müller, especialista em política do clima da Universidade de Oxford, no Reino Unido, ao site da revista Undark logo após a última COP. “Vamos ter fadiga climática.” Em Belém é previsto que cerca de 40 mil pessoas passem diariamente pelo Parque da Cidade, onde a COP30 ficará sediada.
“A mensagem da COP tem de ser levada a sério”, diz o climatologista Carlos Nobre, do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (IEA-USP). “Precisamos passar das metas de redução das emissões para as ações. O mundo tem dinheiro suficiente para financiar a transição energética e a adaptação às mudanças climáticas nos países em desenvolvimento.”
O peso da COP aumentou à medida que, ao longo dos anos, inúmeros estudos científicos foram empilhando evidências robustas de que o aquecimento global, o motor das mudanças climá-
ticas, resulta majoritariamente de ações humanas, em especial da queima de combustíveis fósseis. A grandiosidade da conferência e o processo moroso de tomar decisões em um fórum multilateral que avança por consensos têm provocado críticas às COP mais recentes.
“A agenda climática é muito importante e deve caminhar lado a lado com a da biodiversidade”, diz a ecóloga paraense Ima Vieira, assessora da presidência da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). “Mas atualmente ela tomou quase todo o espaço da agenda ambiental e essa questão precisa ser mais equilibrada.” O tema das mudanças climáticas nasceu dentro da pesquisa e do movimento ambiental, que, na época da Rio92, dedicava mais espaço a discussões sobre a necessidade de preservar a biodiversidade e garantir os territórios dos povos originários do que propriamente ao aquecimento global.
Diante da ameaça existencial que a elevação acentuada da temperatura do planeta passou a representar nas últimas décadas para a humanidade, reforçada a cada novo relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática (IPCC) instituído pelas Nações Unidas em 1988, os pleitos relativos à conservação da fauna e da flora nativas perderam terreno. l
Manifestação em Copacabana durante a Rio92; mais abaixo, a COP21, na qual o Acordo de Paris foi assinado


Geógrafa paraense especialista em incêndios florestais diz que a pauta ambiental não é ideológica e precisa ser levada em conta por pessoas de qualquer tendência política
MARCOS PIVETTA retrato DIEGO BRESANI
Há uma década, a geógrafa Ane Auxiliadora Costa Alencar, 52 anos, tem um compromisso certo no final do ano: pegar o avião com destino a alguma cidade do mundo para participar da Conferência das Partes (COP) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC). Desde 2015, quando ocorreu a COP21 em Paris, ela não perdeu um desses encontros. Neste ano, não será diferente. Mas o palco da COP30 será um lugar bem conhecido: sua cidade natal, Belém.
Diretora de ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam), uma organização científica da sociedade civil fundada há 30 anos na capital paraense, Alencar é especialista em sensoriamento remoto e estuda o impacto do fogo na floresta amazônica e no Cerrado. Ela também é coordenadora do MapBiomas Fogo, mapeamento feito por uma rede colaborativa de mais de 70 organizações não governamentais (ONG), universidades e startups de tecnologia que, por meio de imagens de satélite, registra mensal e anualmente os incêndios florestais nos ecossistemas brasileiros.
Desde 2010, a geógrafa mora em Brasília, onde o Ipam mantém uma de suas sete unidades. Além da capital federal e de Belém, a entidade, que conta com 160 funcionários, dos quais 60 são da diretoria de ciência, tem escritórios em mais duas cidades paraenses, duas em Mato Grosso e uma no Acre.
Para a pesquisadora, uma parcela da sociedade brasileira ainda encara as questões ambientais como pautas ideológicas, da esquerda. “Há pessoas que não percebem que as mudanças climáticas vão impactar a todos, inclusive elas mesmas”, diz. Nesta entrevista, concedida por videoconferência, Alencar fala de suas expectativas para a COP30, de suas pesquisas sobre o fogo na Amazônia e no Cerrado e de como sua paixão infantil por mapas e pedras a levou a se tornar pesquisadora.
ESPECIALIDADE
Sensoriamento remoto e incêndios florestais
INSTITUIÇÃO
Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM)
FORMAÇÃO
Graduação em geografia pela Universidade Federal do Pará (1995), mestrado em sensoriamento remoto e sistemas de informação geográfica pela Universidade de Boston, nos Estados Unidos (2000), e doutorado em recursos florestais e conservação pela Universidade da Flórida, EUA (2010)

Belém foi uma boa escolha para a COP30?
Foi uma grande escolha, mesmo com todos os problemas que existem. É uma cidade que remete a uma região, a Amazônia, que está muito na cabeça das pessoas. No mundo inteiro, as pessoas não sabem qual é a capital do Brasil, mas sabem que existe a Amazônia.
O preço muito elevado da hospedagem não pode esvaziar a COP30?
Esse problema ocorreria, até certo ponto, independentemente de a cidade brasileira escolhida para abrigar a COP ter sido Belém ou não. Vou falar da minha experiencia. Fui a todas as COP depois da de Paris, em 2015. Em todo lugar, tivemos de pagar uma diária de hotel entre US$ 200 e US$ 250. Na de Glasgow, na Escócia, em 2021, conseguimos um lugar para ficar que era uma casa de plástico, basicamente um acampamento, fora do centro. Demorava uma hora de trem para irmos até o local da conferência. Estive em Nova York, agora em setembro, na Semana do Clima, e os hotéis estavam na casa dos US$ 500. Não paguei essa quantia porque fiquei na casa de uma amiga.
Mas há diárias sendo pedidas em Belém que ultrapassam esses valores.
De fato, alguns preços em Belém estão muito elevados e o país poderia ter se preparado melhor para essa situação. Os governos poderiam ter regulado o valor das diárias. O preço dos hotéis em Belém, que são poucos, é o maior problema. Mas é possível conseguir casas, apartamentos, por diárias inferiores a US$ 200. No Círio de Nazaré, Belém recebe milhares de pessoas. Mas são peregrinos, que dormem em redes, na casa de conhecidos ou de familiares. Não são diplomatas, que vão à COP e precisam de algum conforto para participar de duas semanas cansativas de negociações.
A floresta tropical será um dos grandes temas da COP30?
A COP na Amazônia é uma oportunidade para os países da região e a comunidade local terem relevância no contexto global. Isso não significa que as florestas serão o tema central de discussão. Atualmente a queima de combustíveis fósseis é responsável por 87% das emissões globais de dióxido de carbono, principal
gás de efeito estufa, que aquecem o planeta. Isso tem que estar na agenda central da COP, principalmente na questão da mitigação, da redução das emissões de gases de efeito estufa. As últimas duas COP foram em países produtores de petróleo, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e em Baku, no Azerbaijão. A conferência foi para esses países porque era necessário obter um acordo para incentivar a transição de uma economia global ainda baseada em combustíveis fósseis para uma mais calcada em energias renováveis. Hoje cerca de 10% das emissões globais de gases de efeito estufa decorrem de mudanças no uso de terra e da floresta, essencialmente o processo de desmatamento. Nesse setor, o Brasil representa cerca de um quarto das emissões associadas a mudanças no uso da terra e tem relevância mundial. Por isso, é fundamental discutir também a Amazônia na COP30. Mas esse tema não deve se sobrepor à questão central, que é reduzir as emissões derivadas da queima de combustíveis fósseis e acelerar a transição energética. Temos de ter a ambição de colocar reduções significativas de emissão nas novas NDC [metas voluntárias assumidas pelos países para reduzir o aquecimento global].
Quais devem ser os grandes temas de negociação nesta COP, a seu ver? Durante muito tempo, discutimos principalmente a questão da mitigação das mudanças climáticas, de redução de emissões em todas as regiões do planeta. Esse é um compromisso presente nos acordos internacionais. Nas três últimas COP, a questão da adaptação, ou seja, de como os países fazem para reduzir os impactos das mudanças climáticas, ganhou maior relevância. Hoje está claro que temos de fazer as duas coisas simultaneamente. Temos de trocar a roda do carro com ele andando. A meta de limitar o aquecimento a 1,5 ºC em relaçao ao período pré-industrial está cada vez mais distante. Já ficamos um ano inteiro, entre 2023 e 2024, com temperaturas acima desse limite. A mitigação continua sendo a pauta da vez, mas o tema de adaptação cresce dentro da convenção do clima. Nele, há a discussão sobre perdas e danos, sobre que países estão sendo impactados por eventos climáticos extremos e como se poderia diminuir esse efeito por meio de financiamentos.
No mundo inteiro, as pessoas não sabem qual é a capital do Brasil, mas sabem que existe a Amazônia
O financiamento climático anual da ordem de US$ 1,3 trilhão, um pleito defendido por um grupo de países na COP, entre os quais o Brasil, seria empregado com qual finalidade? No começo das discussões, esse valor era voltado muito para a mitigação e ajuda no processo de transição energética. Nos últimos anos, a questão da adaptação também tem ganhado protagonismo. Os dois temas estão lutando hoje por recursos. Mas, no momento, os países ricos estão sem vontade de colocar recursos nesses temas. Porque eles estão voltados para outros temas domésticos, como a questão das guerras, as desigualdades internas, os efeitos da Covid-19, o impacto das tarifas comerciais dos Estados Unidos. Esses países sentem que têm de trabalhar internamente primeiro para resolver essas questões políticas e econômicas. Eles estão olhando mais para o próprio umbigo. Essa situação dificulta a questão do financiamento e acirra um pouco a briga entre o Sul e o Norte global. As mudanças climáticas foram geradas pelo Norte global, que se desenvolveu e emitiu muito. Mas a conta chegou agora para todos e as consequências são ainda maiores para os países
menos desenvolvidos e os setores mais pobres da sociedade.
O Brasil tem uma matriz energética mais limpa que muitos países, mas quer continuar explorando o petróleo, inclusive na chamada margem equatorial, que inclui a região próxima à foz do rio Amazonas. Essa posição não fragiliza a imagem do país na COP30? Na matriz brasileira, a principal fonte de emissão de gases de efeito estufa é a queima de florestas, não a queima de combustíveis fósseis. A conversão de florestas, em especial na Amazônia, para outros usos, como a agropecuária, e o manejo das terras destinadas para essa atividade são as principais fontes de gases de efeito estufa produzidos pelo Brasil, respondendo por 74% das emissões. Desde 2022, o país reduziu significativamente essas emissões. Então, acho que o país chega bem à COP. Ele tem investido bastante também em energias renováveis. Não acompanho de perto a questão das emissões da indústria nacional. Mas o tratamento de resíduos avança e a agricultura brasileira se moderniza, tentando ser mais regenerativa e estocar mais carbono no solo. Sentimos uma mudança no setor do agro.
Mas explorar petróleo, ainda mais na Amazônia, faz sentido em meio ao avanço do carro elétrico?
Explorar ou não o petróleo na margem equatorial deixa o Brasil em uma saia justa mesmo. Para um país que quer se afirmar como um líder climático, que tem feito seu dever de casa, colocar essa questão na agenda é contraditório. O mundo está se modificando. A queima de combustíveis fósseis para geração de energia e uso no setor de transporte é uma grande fonte de emissão em muitos países. A China tem feito uma revolução no que diz respeito à eletrificação do transporte. Hoje lá quase tudo é elétrico, ônibus, motocicleta, carro, e não há barulho nas ruas das grandes cidades. Foi uma mudança muito rápida. A Índia também trabalha nessa perspectiva, da eletrificação. Não sei se vale a pena para o país investir em furar poços de petróleo, um investimento de décadas, que pode se tornar ultrapassado com a eletrificação, sem contar a possibilidade de o Brasil investir em biocombustíveis.
Essas pessoas acham que mitigar as mudanças e se adaptar a elas representa um custo econômico muito elevado.
Mas esse custo vai ser muito menor do que o impacto causados pelas mudanças climáticas. Esse é um tema de ordem coletiva e precisa ser visto como um investimento de longo prazo. Não adianta um só país fazer o dever de casa. Todos têm de fazer. A agricultura brasileira, por exemplo, sofre os impactos de eventos extremos quando ocorre a quebra de uma safra. Grande parte do desmatamento na Amazônia, que é ilegal, ocorre em terras públicas, que estão sendo alvo de grilagem e especulação devido à ação de organizações criminosas. Elas ganham dinheiro com isso. É claro que não são todos os produtores rurais que fazem isso. Mas quem trabalha dentro da lei precisa se posicionar, deixar de ver a questão ambiental como contrária à agricultura.
É possível chegar a um acordo para atingir esse US$ 1,3 trilhão de financiamento climático na COP30?
É uma mudança de escala muito grande. Na COP passada, o valor do financiamento foi elevado de US$ 100 bilhões anuais para US$ 300 bilhões. É verdade que mesmo esse valor inicial de US$ 100 bilhões nunca chegou de fato a ser destinado aos países em desenvolvimento. Gostaria de acreditar que a meta de US$ 1,3 trilhão poderia ser atingida na COP30. Mas, dado o contexto geopolítico atual, é difícil que isso ocorra. A polarização da questão ambiental não apenas no Brasil, mas no mundo, também não ajuda.
Como assim?
A questão ambiental, da redução das emissões, é vista como uma pauta progressista, ideológica. Isso trava a discussão. Outro dia ouvia um podcast europeu em que esse ponto era destacado. Para uma parte da sociedade, esses temas não são vistos como questões a serem resolvidas. Há pessoas que não percebem que as mudanças climáticas vão impactar a todos, inclusive elas mesmas.
Vamos falar de suas pesquisas. Por que resolveu estudar a ocorrência de incêndios na Amazônia e no Cerrado? O Brasil é um país continental, com diferentes biomas e realidades. Aqui, grande parte das fontes de ignição, que causam incêndios, são de origem humana, ainda mais na Amazônia, que representa metade do país. Nesse bioma, naturalmente mais úmido, tem de estar muito seco mesmo para que uma tempestade com raios cause um incêndio natural. Grande parte da área queimada no Brasil, sobretudo na Amazônia, ocorre no período de mais seca, entre agosto e outubro, portanto, em uma época sem chuvas e sem raios. Já o Cerrado, o Pantanal e o Pampa são biomas onde o fogo faz parte de sua evolução ecológica e pode haver incêndios inciados por raios. Mas, mesmo nesses biomas, como na Amazônia, a maior parte do fogo é causado pelo ser humano. Na Amazônia e na Mata Atlântica, o fogo de origem natural é muito raro.
Como os incêndios florestais naturais têm início?
Na ecologia do fogo, há três tipos de fontes de ignição consideradas naturais. A mais frequente são as descargas elétricas. A segunda são os vulcões ativos, que não temos aqui. A terceira são deslizamentos de rochas que, com o atrito, provocam faíscas e iniciam o fogo ao entrar em con-
tato com áreas secas de gramíneas. Esse último cenário é muito específico e também não ocorre no Brasil. Então, aqui, a maior parte das fontes de ignição natural são os raios. Isso ocorre principalmente no Cerrado e no Pantanal. O Cerrado tem uma vegetação bem heterogênea por causa do fogo, das condições de topografia, do solo. Nele, os incêndios naturais ocorrem normalmente na transição das estações, quando há tempestades fortes em lugares mais abertos. O raio cai em um lugar e causa um incêndio. Mas, às vezes, o vento da tempestade leva a chuva para mais adiante. Então, quando o incêndio chega no local úmido, em que caiu chuva, ele se apaga sozinho. Esse é o processo natural, que não causa grandes incêndios. O problema é que as atividades humanas estão impactando esse regime natural do fogo mesmo em ambientes como o Cerrado, historicamente acostumado a ter incêndios.
Como se dá esse impacto?
Muitas pessoas usam os campos naturais do Cerrado e do Pantanal como pastos. A renovação dessas áreas é feita com o uso do fogo. Além de gerar adubo para a terra, o fogo faz com que as gramíneas rebrotem mais vigorosas e palatáveis para o gado. Os produtores mais tradicionais sabem que não se deve atear fogo no ápice da época seca. Isso vai gerar um incêndio que pode sair do controle e arruinar seu investimento. Eles normalmente colocam fogo no início da época seca ou quando tem algum indicativo de chuva iminente.
Como o fogo se articula com o desmatamento na Amazônia?
As toneladas de árvores e vegetação derrubadas têm que desaparecer para se instalar, nesse mesmo lugar, um pasto ou uma área agrícola. Há algumas formas de fazer essa biomassa desaparecer: triturá-la e deixar apodrecer, tirar toda a madeira ou simplesmente queimá-la. O solo da Amazônia é pobre. Se tirar toda a madeira, o solo não consegue sustentar uma plantação ou pasto vigoroso. Triturar a vegetação e deixá-la apodrecer, o que também seria uma forma de enriquecer o solo com nutrientes, demora muito tempo e precisa de maquinário e tecnologia. Mas, se você queimar a biomassa, parte dela vai se
transformar em nutriente para o solo com as cinzas e será possível plantar logo em seguida. Milhares de pessoas fazem isso na Amazônia. Para pequenos produtores e indígenas, fazer isso é uma questão de segurança alimentar, de subsistência mesmo. Isso ocorre há milhares de anos, em pequena escala. O problema é que dados do MapBiomas têm mostrado que a queima de pastagens, principalmente plantadas, é responsável por grande parte das fontes de ignição na Amazônia. É preciso controlar o uso do fogo nessas áreas.
Quer dizer que, na Amazônia, o fogo é usado, primeiramente, para “limpar” a área de floresta recém-desmatada e, depois, periodicamente, para renovar a pastagem?
Sim. Inicialmente, ocorre a queima da floresta para abrir caminho para a pastagem e aumentar a fertilidade do solo. Em seguida, a pastagem é queimada periodicamente para renovar as gramíneas e eliminar árvores e tocos não consumidos por queimadas anteriores. Diferentemente de outras partes do Brasil, onde há um pasto mais bem manejado, com pessoas trabalhando
nesse processo sem o uso do fogo, na Amazônia os pastos são de uso extensivo. O gado come em alguns lugares específicos, que geralmente ficam com o solo mais exposto. Nesses locais, acaba crescendo uma vegetação arbustiva. A forma mais rápida e barata de limpar esse pasto, deixá-lo sem tocos, é com o fogo. Investir em maquinário é caro. Segundo dados do MapBiomas, 88% de toda a área desmatada na Amazônia virou pasto. O uso do fogo de forma extensiva gera uma oportunidade para que ocorram incêndios em anos muito secos, como no ano passado. Não basta só diminuir o desmatamento. Também é preciso mudar a forma de usar o fogo no manejo das pastagens na Amazônia.
Ocorre o mesmo no Cerrado?
Nesse bioma, a situação é um pouco diferente. No sul do Cerrado, em áreas em que as pastagens e a agricultura estão consolidadas há mais tempo, como no sul de Goiás, em Minas Gerais e em São Paulo, o uso do fogo é menor. No entanto, na região do Matopiba [que abrange partes do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia], que é uma frente de expansão principalmente na produção de grãos, a incidência do fogo ainda é alta. No Cerrado, grande parte da área queimada é formada por campos nativos. Nesse caso, o fogo é empregado como forma de manejo do capim nativo, deixá-lo mais vigoroso e preparar a área para a pecuária. No Pantanal, ocorre algo parecido.
Áreas da Amazônia que pegariam fogo a cada mil anos passam a sofrer incêndios mais frequentes
Você foi uma das primeiras pessoas a usar a expressão cicatrizes do fogo para descrever as marcas dos incêndios na floresta amazônica. O que são exatamente essas marcas?
É algo que eu via nas imagens de satélite. Há 30 anos, quando o Ipam estava nascendo, eu trabalhava em um experimento em uma fazenda em Paragominas, cerca de 300 quilômetros ao sul de Belém. Ficava fascinada com as imagens de satélite da região e comecei a identificar umas manchas roxas em meio ao verde da floresta. Chamei essas manchas de cicatrizes. Fiquei intrigada e fui a campo entrevistar fazendeiros para entender o que eram aquelas manchas mapeadas. Então, entendemos que as manchas eram incêndios florestais que entravam na mata. Não eram áreas desmatadas, eram
áreas de incêndios florestais. Naquela época, tínhamos a impressão de que a floresta amazônica era tão úmida que não pegava fogo nunca. Mas vimos que, em alguns anos, mais secos, como durante o fenômeno El Niño entre 1992 e 1999, ela pegava, sim, fogo.
No ano passado, o Brasil registrou o recorde de focos de incêndios. Por que isso ocorreu?
Foi o pior ano desde 1985, quando iniciamos os registros de incêndios no MapBioma s. Mais de 30,8 milhões de hectares foram queimados no Brasil entre janeiro e dezembro de 2024, uma área maior que todo o território da Itália. Mais da metade da área queimada era da Amazônia. Depois de um incêndio, o ambiente se torna naturalmente sensível ao fogo. Áreas da Amazônia que pegariam fogo a cada mil anos passam a sofrer incêndios mais frequentes. Em torno de 60% dessas áreas que pegaram fogo nos últimos 40 anos, foram queimadas mais de uma vez. O aumento da ocorrência do fogo não dá tempo para a floresta se recuperar. O primeiro fogo que entra em uma floresta que ainda não fora queimada é lento, baixo, mas muito danoso para as árvores. Na Amazônia, as árvores têm casca fina. Não foram feitas para resistir ao fogo. Já as do Cerrado têm casca mais grossa, com ranhuras que dificultam a chegada do fogo às suas veias. Então, na Amazônia, as árvores morrem nos incêndios, mas não são consumidas pelo fogo naquele momento. Quando elas de fato caem, buracos são abertos na floresta e entram mais luz e vento quente na mata. Isso muda o microclima da floresta e a deixa mais suscetível a novos incêndios, como os provocados pelo uso do fogo em um pasto vizinho.
Gostaria de falar do início de sua carreira. Por estudou geografia? Sempre fui fascinada por mapas. Passava horas naquelas antigas enciclopédias olhando mapas de vários lugares. Fui uma criança muito tímida. Tive uma professora de geografia no ensino fundamental, entre a quinta e a oitava séries, que falava de suas viagens para diferentes lugares. Era, de longe, a professora de quem eu gostava mais. Em casa, eu ia procurar saber mais sobre aqueles lugares e ficava
norte-americana, a Woods Hole Research Center. Eles precisavam de uma estagiária para digitar todos os perfis de solo obtidos pelo projeto Radam (Radar da Amazônia). Eles queriam fazer um mapa digital com as características desses perfis. O pesquisador que estava trabalhando nesse projeto era o Daniel Nepstad [ecólogo que viria a ser um dos fundadores do Ipam em 1995]. Fui contratada porque, além de saber digitar, era boa de cartografia. Esse foi meu trabalho durante meses. Estudei na UFPA e nunca tinha visto um computador. Minha família não tinha dinheiro. Esse estágio mudou a minha vida.
De que forma?
fascinada com os mapas, em ver como a vegetação e o relevo eram diferentes. Também era fascinada por pedras. Eu tinha coleção delas. Eu ia passar férias na casa do meu avô em Mosqueiros, que é perto de Belém. Andava na praia e olhava as pedras, os minerais. Na hora de fazer o vestibular, escolhi geografia um pouco por causa disso. Foi a melhor escolha que eu poderia ter feito. A geografia tem um componente humano muito forte, de transformação do ambiente que usamos, e tem a parte de cartografia. Foi o casamento perfeito para mim.
Quando entrou na faculdade? Passei no vestibular em 1990. Tinha 17 para 18 anos e eu logo queria aprender tudo. Gostava muito de geografia física. Fiz vários estágios como voluntária. Acabava um e fazia outro. Estudei solos, meteorologia, aerofotogrametria, sensoriamento remoto. Gostei de trabalhar na área. Até que surgiu um estágio que me conectou ao time que iria fundar o Ipam. Era um projeto de pesquisa em Belém dentro da Embrapa Cpatu [hoje denominada Embrapa Amazônia Oriental] junto com uma ONG de pesquisa
Fiquei apaixonada pelas imagens de satélite. Era algo que remetia aos mapas da infância. Lembro que um dia uma pessoa do Banco Mundial foi visitar o experimento na fazenda e viu minhas pastas com as imagens de satélite e as áreas queimadas. Ele propôs fazermos uma pesquisa na região mais impactada pelo fogo. Isso foi mais ou menos em 1994. Eu ainda não tinha me formado na UFPA. O Daniel Nepstad topou a proposta e passei uns seis meses no campo, coordenando esse projeto, viajando pela região da fronteira do desmatamento, mais ao sul, hoje chamada de arco de desmatamento. Entendemos que metade da área queimada foi por acidente. O fogo escapava de uma área para outra. Essa constatação foi importante porque na época havia uma campanha muito forte contra o fogo. Adoraria que não houvesse fogo na Amazônia. Não tem de ter necessariamente. Mas hoje ainda não há uma alternativa para os pequenos proprietários e indígenas. Então é preciso controlar e ter governança sobre o fogo, por meio da expedição de licenças.
Sempre quis trabalhar com pesquisa?
Se me perguntasse na época de faculdade se iria trabalhar com pesquisa, ia dizer que não. Era movida pela curiosidade de aprender, de olhar mapas. Mas tive a oportunidade de fazer mestrado e doutorado fora do país e me relacionar com grandes pesquisadores do mundo. Mais tarde, vi que meu trabalho dava retorno social, ajudava na conservação de ambientes que são muito caros para nós. Vi que era importante fazer pesquisa. l
Árvores grandes da Amazônia aumentam de tamanho ao consumirem um dos gases responsáveis pelo aquecimento global
MARIA GUIMARÃES

Há muito se ouve falar sobre a iminência de a Amazônia atingir o ponto de não retorno e tornar-se degradada. Nos últimos anos as notícias foram ficando cada vez piores, diminuindo a capacidade da floresta de captar carbono. Agora, chega uma boa notícia: as árvores estão se tornando maiores por toda a região, possivelmente em consequência do aumento do teor de gás carbônico (CO₂) na atmosfera, segundo artigo publicado no final de setembro na revista científica Nature Plants. O aumento foi mais evidente nas árvores maiores.
Os dados mostraram que o tamanho médio das árvores amazônicas cresceu 3,3%, por década, nos últimos 30 anos, enquanto o tamanho máximo aumentou 5,8%. Isso indica que as árvores maiores conseguiram se beneficiar mais do acréscimo de carbono ao ar, embora toda a floresta tenha aumentado, de modo geral. Por toda a bacia amazônica, a proporção de troncos com diâmetro maior de 40 centímetros (cm) aumentou. “Usamos inventários florestais que integram uma rede chamada RAINFoR, nos quais os pesquisadores medem a floresta em cada um desses locais ao longo de muito tempo”, explica a ecóloga brasileira Adriane Esquivel-Muelbert, da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, primeira autora do artigo. Nos nove países amazônicos, integrantes da rede vão periodicamente a campo e medem as mesmas árvores, identificando quais sobreviveram.
A medida usada é o que os especialistas chamam de área basal, que quan-
tifica quanto espaço o tronco ocupa se a árvore fosse cortada a uma distância de 1,3 metro (m) acima do chão. “Se há alguma deformidade no tronco, medimos mais acima”, relata Esquivel-Muelbert. “Para garantir que a medição seja feita sempre no mesmo lugar, pintamos uma marca no tronco.” Assim é possível, ano após ano, avaliar mudanças. O que transparece disso é que as árvores com mais de 40 cm de diâmetro são cada vez mais numerosas e maiores, mas o aumento das árvores com tronco entre 10 cm e 20 cm não é tão perceptível. “O ideal seria termos a biomassa de cada árvore, mas não conseguimos ter precisão suficiente na estimativa da altura para acompanhar o crescimento”, afirma.
O artigo interpreta a observação como um sinal de resiliência da floresta, que assim se afirmaria como um estoque de carbono. O bônus é retirar o CO₂ da atmosfera, mas essa função de sumidouro não basta para amenizar os danos causados pela emissão desenfreada pelo mundo afora.
O resultado é surpreendente porque estudos recentes indicam que a Amazônia estaria se tornando mais fonte do
Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, Amapá: floresta com estatura avantajada

que captadora de carbono (ver Pesquisa FAPESP nº 321). “Esses estudos são feitos em uma escala diferente e olham para vários tipos de floresta ao mesmo tempo, inclusive áreas desmatadas”, diz a ecóloga. “Nós olhamos só para a floresta madura, e isso faz muita diferença.” Ou seja, não há contraposição, porque os objetivos de estudo são distintos. As áreas desmatadas de fato são fonte de carbono, e o problema é elas predominarem sobre as de floresta madura. “A capacidade de sumidouro das florestas maduras está diminuindo, existe uma previsão de que esse efeito pare de existir em 2030”, diz Esquivel-Muelbert. Para reverter isso, é preciso garantir a permanência dessas florestas, além de reduzir a emissão de combustíveis fósseis.
Mostrar que as árvores maiores, muito longevas, estão resistindo às mudanças climáticas pode ser um bom sinal, caso elas sejam mais resilientes do que se calculou até agora. Experimentos florestais que simulam uma seca extrema mostraram, anteriormente, que as árvores muito grandes podem morrer subitamente em situações de seca, por uma falha hidráulica no transporte de água das raízes às folhas (ver Pesquisa FAPESP nº 238). As secas estão, justamente, cada vez mais acentuadas e frequentes no contexto atual de mudança do clima.
Mas isso não é o que se vê na realidade, de acordo com o biólogo brasileiro Paulo Bittencourt, pesquisador na Universidade de Cardiff, no Reino Unido.
“Aparentemente as árvores grandes não são mais limitadas por seca do que as pequenas, nas áreas onde vivem”, afirma ele, que estuda árvores gigantes na Amazônia brasileira (ver Pesquisa FAPESP nº 336 ) e na Malásia. “O monitoramento na Malásia tem mostrado que elas estão muito bem depois de uma forte seca e que se aclimataram mudando atributos da madeira.” Dados preliminares com o angelim-vermelho (Dinizia excelsa), no Amapá, mostram a mesma coisa. Entender como árvores que podem passar dos 40 m de altura resolvem o desafio de engenharia hidráulica é uma questão ainda em aberto, mas Bittencourt tem avançado nessa investigação. Sobressair-se acima do dossel da floresta também é um risco no que diz respeito a atrair raios durante tempestades e a rachar por causa de rajadas de vento, riscos que parecem ter um papel mais preponderante.
“Continuamos a tentar entender as árvores gigantes”, diz a pesquisadora de Cambridge. “Como elas são raras na paisagem, é difícil entender o que causa a mortalidade.” Bittencourt acrescenta que é preciso repensar os estudos. “Muitos inventários se baseiam em parcelas de 1 hectare (ha), nas quais não há mais do que 10 árvores grandes”, explica. “Se uma cai, o efeito na biomassa da parcela é muito grande.” A fatia de 1% das árvores que representam as maiores da floresta acumula cerca de 50% da biomassa vegetal. Esquivel-Muelbert tem trabalhado com parcelas de 1.500 ha, justamente em busca de sanar essa limitação.
Para o biólogo Rafael Oliveira, que participou do experimento de seca “Esecaflor” e do estudo liderado por Bitten-
court com árvores gigantes do Amapá, o estudo de Esquivel-Muelbert pode sugerir uma mudança no olhar sobre o papel da Amazônia no ciclo do carbono. “Quem estuda vegetação sabe que ela tem mecanismos de resistência a diversos fatores estressantes”, afirma. O cenário de colapso que domina as projeções vem, segundo ele, de modelos climatológicos que não levam em conta a fisiologia das árvores e de uma amostragem ampla da paisagem. “Precisamos de mais estudos na escala local, para monitorar o que a vegetação está fazendo.”
Esquivel-Muelbert ressalta a necessidade de investimento de longo prazo, por vários países, nesse tipo de estudo. “Só vamos entender a dinâmica da floresta se continuarmos a fazer inventários detalhados”, avisa a pesquisadora, que considera os dados de longo prazo uma infraestrutura científica importante. Ela ressalta também que experimentos são muito importantes para entender os mecanismos. Um deles é o AmazonFACE, que despejará CO₂ em trechos da floresta amazônica para medir a reação da vegetação. “Será que elas investem mais em frutos ou em crescimento?”, exemplifica a ecóloga. O primeiro pulso de emissão do gás, conta Bittencourt, deve acontecer em breve, com intenção de começar de fato o experimento no início de 2026. “Talvez as árvores aumentem sua biomassa, talvez fiquem mais resistentes à seca por transpirarem menos, talvez já tenham atingido seu limite de aclimatação e não mudem nada”, propõe. Segundo ele, o mais empolgante do artigo da colega de Cambridge é que a observação na escala da bacia amazônica se encaixa perfeitamente nas percepções mais atuais. l

Como os eventos extremos do clima podem impactar o setor turístico e vice-versa
MÔNICA MANIR
m outubro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou seu levantamento mais recente sobre o turismo nacional. São números da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad-C), colhidos em 2024. De acordo com o relatório, no ano passado 20,6 milhões de viagens tiveram origem no Brasil, mesmo número de 2023. Cerca de 85,5% delas aconteceram com finalidade pessoal, tendo o lazer como principal motivo (39,8%).
Outro dado investigado pela pesquisa foi o destino. A maioria dos turistas viaja internamente (98%) e, em geral, vai atrás do binômio sol e praia (44,6%) ou então da categoria que engloba natureza, ecoturismo e aventura (21,7%), o que soma 66,3% do total.
No entanto, se a faixa costeira, os rios, a savana pantaneira, as chapadas e as matas figuram como os espaços turísticos mais atraentes do país, eles são também os mais sujeitos ao impacto das alterações climáticas. Estão mais vulneráveis, portanto, à elevação do nível do mar, às ondas de calor, às inundações, aos incêndios, à acidificação dos oceanos – aos eventos extremos que têm assolado o planeta cada vez com maior frequência.
Um desses eventos, a tragédia na Vila Sahy, no município de São Sebastião, litoral norte paulista (ver Pesquisa FAPESP nº 348), motivou a elaboração de um dos poucos trabalhos acadêmicos brasileiros que relacionam turismo à crise climática. Após a catástrofe de 19 de fevereiro de 2023, que causou a morte de 64 pessoas quando encostas do local vieram abaixo com a precipitação recorde de 680 milímetros de chuva em 24 horas, a geógrafa Rita de Cássia Ariza da Cruz despertou para o tema. “A catástrofe foi literalmente um divisor de águas no foco dos meus estudos”, afirma.
Professora do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP), ela já vinha arrebanhando pesquisadores de vários campos de estudo em torno da pauta do turismo desde 2020, quando a pandemia de Covid-19 quebrou as pernas do setor. Os encontros virtuais entre os colegas levaram à criação, naquele ano, de uma rede de pesquisa em tempos de pandemia que, em 2022, se transformou na Rede Internacional de Pesquisa Turismo e Dinâmicas Socioterritoriais Contemporâneas.
Sob esse guarda-chuva, cerca de 100 cientistas de diferentes formações e de instituições de
Na outra página, vista aérea da Barra do Sahy, praia no litoral paulista; abaixo, morro na localidade com deslizamento de terra, após chuva intensa em fevereiro de 2023
ensino e pesquisa do Brasil, Argentina, Portugal e Moçambique buscam produzir reflexões e artigos acerca da relação entre turismo e aspectos sociais, econômicos, políticos, ambientais e culturais. O livro Mudanças climáticas e turismo, que tem Cruz como uma das organizadoras, é resultado dessa troca de conhecimento. Lançada em setembro pela editora FFLCH/USP e de acesso aberto, a obra aborda os efeitos dos reveses climáticos em ambientes costeiros, na Amazônia, no Cerrado e no Pantanal, além de esmiuçar condições em que o turismo age nesse cenário como vilão, vítima ou ambos.
A se pensar em aquecimento global, o aspecto mais vilanesco do turismo seria o de emissor de gases de efeito estufa (GEE) por causa do transporte de pessoas de um lado a outro. Como mostra a Pnad Turismo, no ano passado o principal meio de locomoção usado em viagens pelos entrevistados foi o carro particular ou de locadora (50,7%), seguido por avião (14,7%) e ônibus de linha (11,9%).
No segundo capítulo do livro, a geógrafa e turismóloga Isabel Jurema Grimm, das universidades de Vassouras (UniVassouras) e Santa Úrsula (USU), ambas no Rio de Janeiro, destaca que de 2009 a 2019 as emissões de GEE pelo turismo

no mundo aumentaram 40%. Ou seja, passaram de 3,7 gigatoneladas (7,3% das emissões globais) em 2009 para 5,2 gigatoneladas (8,8% do total) 10 anos mais tarde. Assim, a pegada de carbono do setor se expandiu a uma taxa anual de 3,5%, mais que o dobro da taxa da economia global (1,5% ao ano) nesse mesmo período. Mantido o nível de crescimento, esse índice pode dobrar a cada 20 anos. Grimm, uma das organizadoras do livro, é também autora de uma das primeiras teses de doutorado no Brasil envolvendo turismo e mudanças climáticas. O trabalho foi defendido em 2016 na Universidade Federal do Paraná (UFPR).
Viagens de avião são um importante motor dessa emissão de GEE. De acordo com a Agência Internacional de Energia (IEA), a aviação respondeu por cerca de 2,5% das emissões globais de dióxido de carbono (CO₂) em 2023, lançando na atmosfera cerca de 800 milhões de toneladas do gás. O alerta cresce quando se considera que a movimentação de pessoas pelo mundo por motivo de lazer já está voltando ao patamar de 2019, o ano anterior à pandemia.
Segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT), mais de 1,4 bilhão de pessoas viajaram para o exterior em 2024, o que representa 99% da quantidade de turistas internacionais de cinco anos antes. A França, que lidera o ranking de país mais atraente ao olhar estrangeiro, recebeu mais de 100 milhões de turistas no ano passado. Um aumento de 2 milhões em relação a 2023, de acordo com o Ministério da Economia francês e a OMT. Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris, a reabertura da Catedral de Notre-Dame e as comemorações do 80º aniversário do Desembarque no Dia D foram seus maiores chamarizes.
De acordo com a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), o Brasil recebeu cerca de 7 milhões de turistas internacionais de janeiro a setembro de 2025. No ano passado, o país passou a ocupar a quinta posição no ranking da ONU Turismo dos destinos mais procurados nas Américas, ultrapassando a Argentina e ficando atrás dos Estados Unidos, México, Canadá e República Dominicana. Em termos mundiais, ocupou a 39ª posição em 2024, ainda segundo a ONU Turismo.
O oceanógrafo e geógrafo paulista Marcus Polette, do Programa de Pós-graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental da Universidade do Vale do Itajaí (Univali), em Santa Catarina, tem avaliado como os efeitos deletérios do turismo ocorrem na costa brasilei-
ra desde os anos 1950. Daquela década para cá, o turismo de sol e praia passou a se desenvolver a partir de uma estrutura baseada na fórmula praia, calçadão, avenida beira-mar e prédios. “No país, os calçadões foram construídos muitas vezes em cima das praias, e várias avenidas beira-mar cobriram a vegetação de restinga”, afirma. “O processo foi tão rápido que esses sistemas ecológicos, praia e restinga, perderam a função de amortecer os efeitos da elevação do nível do mar.”
Quanto aos prédios, nem o céu parece ser o limite. Balneário Camboriú (SC), cidade próxima a Itajaí e também objeto de estudo de Polette, é famosa por seus espigões, com vários edifícios na faixa dos 200 metros de altura e um com mais de 550 metros em construção, previsto para ser
o maior do mundo. Conforme dados da Secretaria Municipal de Turismo, entre dezembro de 2024 e março de 2025, o município recebeu 1,87 milhão de turistas, seja residentes de veraneio ou excursionistas – aqueles que fazem bate e volta saindo de suas cidades de origem.
O pesquisador é um dos autores do estudo “A zona costeira e marinha de Santa Catarina diante dos cenários de mudanças climáticas: Prioridades para a geração de subsídios científicos”, publicado em junho de 2024 no Brazilian Journal of Aquatics Science and Technology. Ele lembra que esse paliteiro de prédios altos, presentes não apenas em Camboriú, mas também no Guarujá (SP), Fortaleza (CE), Recife (PE) e outras cidades, formam cânions urbanos que intensificam as ondas de calor e a poluição dos carros no seu miolo e ainda provocam o aumento do ruído pela circulação do vento entre eles. Sem contar a impermeabilização do solo, o que piora os alagamentos já frequentes. No último deles, em janeiro de 2025, Balneário Camboriú chegou a declarar situação de emergência devido às fortes chuvas que inundaram a avenida Atlântica e outras vias importantes.
Mas o turismo também é vítima da crise climática. Regiões que promovem mergulhos para


2
Colônias branqueadas e amareladas de coral-de-fogo, em Maragogi, Alagoas: espécie é uma das que mais sofrem com as altas temperaturas dos oceanos
a observação de corais, por exemplo, estão sofrendo com o branqueamento desses seres provocado pelas altas temperaturas dos oceanos. O branqueamento é um fenômeno no qual os corais perdem a sua cor vibrante porque expulsam as algas simbióticas chamadas zooxantelas. Elas habitualmente fornecem aos corais nutrição e cor, mas passam a secretar substâncias tóxicas diante das altas temperaturas da água. “O coral branqueado não está morto, mas está na UTI [Unidade de Tratamento Intensivo], pois não tem mais comida e está com déficit energético”, explica o oceanógrafo Miguel Mies, do Instituto Oceanográfico (IO) da USP e coordenador de pesquisas do projeto Coral Vivo.
Criado em 2003 no Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (MN-UFRJ) e patrocinado pela Petrobras, o projeto é uma referência em pesquisa, conservação e sustentabilidade dos recifes de coral do Brasil. Um estudo liderado pelo grupo publicado em setembro na revista Coral Reefs e assinado por 90 pesquisadores vinculados a 19 instituições brasileiras (15 universidades públicas, três organizações não governamentais e uma agência federal), além da Universidade de Bordeaux (França), revelou que a onda de calor que assolou os ocea-
nos do planeta em 2023 e 2024 deixou sequelas em recifes brasileiros.
A equipe monitorou 18 ecossistemas recifais entre Ceará e Santa Catarina, bem como em duas regiões oceânicas no Nordeste do Brasil (o arquipélago de Fernando de Noronha e o Atol das Rocas), entre agosto de 2023 e dezembro de 2024. E registrou mortalidade em massa de corais em pontos turísticos de grande procura como Maragogi, em Alagoas (88%), São José da Coroa Grande e Porto de Galinhas, em Pernambuco (53% e 28%, respectivamente), e Rio do Fogo, no Rio Grande do Norte (38%).
As espécies mais afetadas foram o coral-de-fogo (Millepora alcicornis), que, por seu formato ramificado, abriga peixes e outros invertebrados, e o coral-vela (Mussismilia harttii ), endêmico no Brasil e já ameaçado de extinção. “As ondas de calor no país estão mais intensas, mais frequentes e mais duradouras, e isso é uma receita para o desastre nos sítios recifais, pois limita qualquer recuperação”, afirma Mies. O turismo, a seu ver, pode ser um aliado quando gera consciência ambiental para a valorização e consequente conservação do ambiente dos corais. Ao mesmo tempo, torna-se um estressor se feito de forma predatória, com pisoteio, acúmulo de lixo e poluição com resíduos oriundos dos barcos. “Os recifes que não têm proteção contra esses estressores de escala local toleram de forma pior o aquecimento, ou seja, vão branquear e morrer mais quando vier a próxima onda de calor”, prevê o oceanógrafo.
Na agenda da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, a COP30, consta pelo menos uma mesa de discussão sobre o turismo. Em um dos capítulos do livro Mudanças climáticas e turismo, os pesquisadores analisam como os investimentos feitos pelo governo estadual, pela União e pelas empresas vêm alterando a paisagem de Belém não apenas para receber o evento em novembro, mas também com o objetivo de preparar a cidade para atrair o turismo internacional.
Nesse sentido, o geógrafo Hugo Serra, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) e um dos autores do texto, chama a atenção para a especulação imobiliária que viceja em áreas centrais da capital, a reboque dessas alterações na infraestrutura urbana. “Veja a contradição de construir mais prédios numa cidade que é símbolo da porta de entrada para a maior floresta do mundo”, diz. l
Os artigos científicos e o livro consultados para esta reportagem estão listados na versão on-line.
Para a climatologista de Gana, nações em desenvolvimento precisam de apoio financeiro e tecnológico para enfrentar os efeitos do aquecimento global
RICARDO ZORZETTO*

Desde pequena Nana Ama Browne Klutse ouvia que deveria se dedicar a alguma área da ciência porque seu interesse pela natureza a levava a “fazer perguntas demais”. Como a biologia não era seu forte e a química lhe parecia difícil, escolheu a física. Nascida em Gana, na África Ocidental, ela graduou-se na Universidade da Costa do Cabo, em seu país, e planejava se dedicar à astronomia. As oportunidades, no entanto, sopraram em outra direção e a levaram a se tornar uma climatologista de reconhecimento internacional. Especialista em fenômenos dinâmicos do clima, em particular as monções africanas, Klutse foi pesquisadora do Instituto de Ciência Espacial e Tecnologia de Gana e já gerenciou o Centro de Sensoriamento Remoto e Clima do país. Professora da Universidade de Gana, ela foi uma das principais autoras do capítulo de ciências físicas do sexto relatório de avaliação, o AR6, do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas
das Nações Unidas (IPCC). Publicado em 2021, o documento confirmou que as alterações recentes no clima do planeta são decorrentes da atividade humana. Hoje, aos 44 anos, ela é vice-presidente do grupo de trabalho 1, que vai analisar as bases científicas do próximo relatório, o sétimo, previsto para sair em 2029. Desde janeiro, ela dirige a Agência de Proteção Ambiental de Gana.
Klutse esteve pela primeira vez no Brasil em setembro, quando participou da 17ª Conferência Geral da Academia Mundial de Ciências (TWAS), realizada no Rio de Janeiro em parceria com a Academia Brasileira de Ciências (ABC). No evento, falou sobre o impacto das mudanças climáticas. “Estamos nos aproximando de um ponto crítico no qual podemos não ter mais reversibilidade das condições do sistema climático”, afirmou.
Klutse conversou com Pesquisa FAPESP sobre os efeitos das alterações climáticas já observados na África, sobre o que aguardar do próximo relatório do IPCC e sobre suas expectativas para a COP30. Leia, a seguir, os principais trechos.
*A reportagem foi ao congresso a convite da TWAS e da ABC

Como vê o clima do planeta hoje e o que espera para os próximos anos?
Observamos o aumento contínuo da temperatura, associado às emissões de gases de efeito estufa, que continuam sendo lançados na atmosfera. Defendemos uma redução global nas emissões, mas ainda não atingimos a meta proposta. Há episódios frequentes de altas temperaturas, inundações, secas e, por causa da elevação do nível do mar, erosão costeira em algumas regiões. Muitos países já estão vulneráveis, especialmente aqueles em desenvolvimento, porque não têm capacidade de adaptação para responder ao impacto do clima. A infraestrutura em vários países não consegue proteger contra as inundações. Nas regiões mais internas dos continentes, as secas colocam a segurança alimentar em risco, porque algumas áreas não têm como armazenar alimentos por muito tempo e praticam a
agricultura de sequeiro [que depende da chuva para a irrigação]. Tudo isso afeta a migração e causa violência e guerras. A situação é pior nos países pobres.
Para conter o aumento da temperatura em 1,5 grau Celsius (°C) acima dos níveis pré-industriais, as emissões de gases de efeito estufa precisariam cair. Como estamos? Após o Acordo de Paris, o IPCC publicou um relatório sobre o impacto do aumento de 1,5 °C em todas as regiões do mundo. Ficou claro que, ao permitir esse nível de aquecimento, haverá consequências sérias na segurança alimentar, nos padrões de precipitação e de ondas de calor, de ocorrência de pragas e doenças. Por isso, defendemos um corte nas emissões. Temos de reduzi-las pela metade até 2030. Alguns países estão se esforçando, mas não todos.
A Organização das Nações Unidas [ONU] e em especial os Estados Unidos retiraram o apoio a atividades relacionadas ao controle de mudanças climáticas, como as estratégias de mitigação. Isso impacta a forma como as pessoas vão enfrentar as mudanças climáticas e como os países vão tentar atingir suas metas de redução das emissões. Muitos países se esforçaram na preparação de suas contribuições nacionalmente determinadas, as NDC, que submeteram à UNFCCC [Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima]. No entanto, muitos governos podem não ter os meios financeiros ou tecnológicos para implementar suas NDC.
Em 2024, o aumento da temperatura média do planeta ultrapassou, em alguns meses, 1,5 °C. O que pode acontecer em diferentes regiões do mundo no curto prazo?
Estamos nos aproximando de um ponto crítico no qual podemos não ter mais reversibilidade das condições do sistema climático. Precisamos entender que o aquecimento médio de 1,5 °C significa uma elevação maior em algumas regiões. Na África, corresponde a cerca de 2,4 °C. Nas regiões tropicais, a elevação pode ser ainda maior. A cada ano há um aumento de temperatura maior do que nos anos anteriores. A partir do ponto crítico, podemos ter dificuldade para entender como o padrão de chuvas, as temperaturas e a circulação oceânica passarão a se comportar.
Quais são os impactos esperados das mudanças climáticas na África?
Como disse, um aumento de 1,5 °C significa muito mais calor para a África. A maioria dos países africanos já enfrenta os impactos disso. Temos problemas de inundações, secas e, nas áreas costeiras, elevação do nível do mar. O aumento de temperatura também se traduz em doenças para populações humanas e em pragas agrícolas. Os agricultores estão tendo dificuldade para entender quando começa a chover para que possam plantar e quando precisam aplicar insumos agrícolas em seus campos. A maioria dos agricultores na África depende da chuva. A disponibilidade de irrigação é limitada, assim como o apoio financeiro para a agricultura irrigada e os recursos hídricos. Vários países africanos já sofrem com insegurança alimentar e problemas de saúde. As ondas de calor aumentam a incidência de doenças de pele e de malária.
Alguma região é mais afetada?
Todo o continente. As regiões de terras altas e montanhas sofrem com as secas. As terras baixas, com as inundações. No litoral, já se observa erosão costeira. Os países que mais sofrem são os mais pobres e aqueles em guerra, como o Sudão e o Sudão do Sul, onde a disponibilidade de comida é limitada.
A África sempre emitiu pouco gás de efeito estufa, mas deve ser um dos continentes mais afetados. Como os países africanos podem se desenvolver sem repetir os padrões de emissão de outros continentes?
Chamamos isso de dilema ético. O continente africano emite menos, mas sofre mais com o aquecimento global e seus impactos. Os países africanos devem se unir e se posicionar para... não quero usar a palavra “lutar”, mas buscar o que lhes é devido. Precisamos lidar com esse dilema. A razão pela qual participamos das conferências das partes, as COP, é que esperamos chegar a um acordo para que os países desenvolvidos, que emitem mais gases, apoiem os países que não emitem muito, mas têm florestas que ajudam a retirar dióxido de carbono da atmosfera. A maioria dos países africanos possui cobertura florestal, que gera créditos de carbono. É preciso criar um padrão para que, na comercialização desses créditos, os
países desenvolvidos não enganem aqueles em desenvolvimento. Precisamos nos sentar à mesa de discussão usando linguagem simples e atitudes transparentes para discutir como os países africanos sobreviverão ao impacto das mudanças climáticas, para que tanto os países desenvolvidos quanto os em desenvolvimento fiquem em uma situação confortável.
O que espera da próxima COP?
Muitas pessoas perderam a esperança e o interesse na COP. Todos os anos nos reunimos para discutir compromissos dos países desenvolvidos com os países em desenvolvimento e os compromissos não estão sendo cumpridos como o esperado. Para a COP30, no Brasil, espero que comecem a ser cumpridos e que se aprove um roteiro claro para implementar os acordos já assumidos de financiamento climático, de transferência de tecnologias para apoiar a adaptação e de implementação de medidas de mitigação e do fundo de perdas e danos.
Na COP anterior, aprovou-se um apoio anual de US$ 300 bilhões, bem abaixo do esperado US$ 1,3 trilhão. Isso pode mudar agora?
É uma luta, mas acredito que algo pode ser feito. Precisamos colocar as pessoas certas à mesa de negociação para contar nossas histórias [dos países em desenvolvimento] da maneira certa e definir claramente nossas necessidades. Tenho alguma esperança na COP30.
Gana não fica longe da floresta tropical do Congo, a segunda maior do mundo. Qual é o estado de preservação dessa floresta e quais as principais ameaças?
Atualmente, a ameaça vem do crescimento populacional, da urbanização e do impacto da mineração de ouro. Nas florestas de Gana, também há a instalação de novas fábricas, estradas e a expansão das terras agrícolas.
Quanto da floresta já foi derrubado?
Não sei dizer. Uma parte foi afetada pela mineração e pela expansão urbana, mas temos algumas reservas nas quais a floresta está bem preservada.
No Brasil, a floresta amazônica é importante para o clima no país. Como
a floresta do Congo influencia o clima na África e em outras regiões?
A floresta amazônica também influencia o clima da África, assim como a floresta do Congo. Em Gana, também temos uma floresta enorme que contribui para a distribuição de chuva e umidade no país.
O que o próximo relatório do IPCC deve mostrar?
Avançamos um pouco a cada relatório. A partir dos comentários das partes interessadas, ficou claro que as pessoas querem relatórios práticos, não apenas retóricos. Uma questão é que o relatório do IPCC não é prescritivo. Ele fornece diretrizes nas quais cada governo deve se basear para formular as suas políticas. Estamos ouvindo os stakeholders e esperamos que o próximo relatório seja mais prático e conciso. O anterior era volumoso.
Você integra um experimento chamado Cordex. O que é?
É um experimento global no qual usamos modelos para entender o comportamento do clima. Acreditamos que um único modelo não tem a resolução necessária para a previsão desejada. Por isso usamos cerca de 25 modelos climáticos desenvolvidos por instituições de todo o mundo
para entender o clima e fazer projeções para o futuro. Esse experimento nos ajudou a entender o sistema climático na África. Fiz muitas pesquisas com esses modelos para fornecer uma visão geral de muitas variáveis na África, como temperatura, volume de precipitação, sistemas de vento, número de dias secos e chuvosos consecutivos. O sexto relatório do IPCC cita muitas publicações que fizemos sobre o Cordex [Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment, dividido em 14 regiões do globo].
Por que os modelos regionais são importantes?
Porque precisamos entender o clima das diferentes regiões para compreender o clima global. No Cordex África, analisamos as mesmas variáveis, por exemplo variabilidade na precipitação em cada sub-região da África. Fizemos o mesmo com o sistema eólico, a temperatura, a disponibilidade hídrica e para variáveis agrícolas. Queríamos entender todo o sistema climático da África.
Como o clima na África afeta o de outras regiões do mundo?
Muitos países já estão vulneráveis, em especial os em desenvolvimento, por não ter capacidade de adaptação
Posso citar um exemplo. Um tsunami que se desenvolveu na costa leste dos Estados Unidos anos atrás teve origem na costa do Senegal. Começou no Senegal, cresceu lentamente e amadureceu perto dos Estados Unidos. Por isso, o governo norte-americano estabeleceu uma instituição oceânica na costa de Dacar, no Senegal, para estudar ciclones e furacões que podem se originar ali. Os diferentes sistemas que compõem o clima são globais e podem afetar diferentes regiões do planeta. Pense no El Niño e no La Niña. Eles ocorrem no Pacífico e impactam o clima na África, inclusive em Gana.
O que a levou a se dedicar à física e aos estudos climáticos?
A física surgiu naturalmente para mim enquanto eu crescia. Eu fazia perguntas sobre a natureza, desde cedo. Me disseram “Você está fazendo perguntas demais. Quando for para a escola, estude ciências”. Na universidade, tive de escolher uma área específica. Biologia era interessante, mas eu não tinha notas boas, e química era difícil para mim. Fiz matemática com especialização em física. Meu primeiro interesse foi em astronomia, mas
não tive a oportunidade de fazer mestrado na área. No doutorado, consegui financiamento para pesquisa em climatologia e fui para a Cidade do Cabo, na África do Sul. Fiz um programa sanduíche com o Centro Internacional de Física Teórica [ICTP] Abdus Salam, em Trieste, na Itália. Meus orientadores me conectaram com diferentes programas, como o Cordex, o que me abriu outras oportunidades. Trabalhei no Cordex; no Programa Mundial de Pesquisa Climática, o WCRP; no IPCC.
Como mulher, quais desafios enfrentou no seu país para se tornar pesquisadora? Houve preconceito? Infelizmente, é normal. Em muitas áreas ou reuniões, sou a única mulher. Dá uma sensação de solidão. Busquei mulheres para orientar para que fizessem parte da área. Infelizmente, só consegui uma para orientar no doutorado. Há outra na graduação. Espero que ela se forme em breve, aí terei duas. Procurei mais mulheres, mas elas não estão disponíveis para treinamento.
Isso não a desanimou?
O que me desanimaria talvez fosse a família. Culturalmente, em Gana, a sociedade espera que, a partir de certa idade, a mulher case e tenha filhos. Isso faz muitas mulheres interromperem suas carreiras para se dedicar à família. Não fui afetada dessa forma porque estava focada na carreira, apesar de ter família.
Como é o acesso à educação e ao ensino superior em Gana, especialmente para mulheres?
É gratuito para todos. As alunas recebem algumas prioridades em termos de admissão. Em algumas universidades, a nota necessária para aprovação é um ponto mais baixo para as mulheres, para tentar despertar o interesse delas. Temos bolsas de estudo de algumas empresas para mulheres estudantes de ciência.
Você tem um trabalho para incentivar meninas e mulheres a seguirem carreiras na ciência. O que faz? Administro um programa de mentoria para meninas. Visito escolas e dou palestras para todos os alunos, mas especialmente para as alunas. Converso com elas sobre as vantagens de cursar uma faculdade e escolher a carreira científica.
As nações devem colaborar umas com as outras; temos um único planeta e a atividade de cada país afeta os demais
Eu me uso como exemplo, descrevo as oportunidades que tive por seguir a carreira científica. Isso ajudou muitas mulheres a escolherem essa área. Também faço aconselhamento individual e incentivo as alunas, mesmo as que já têm uma vida profissional definida.
Em quais áreas a pesquisa científica é mais desenvolvida em Gana?
Nas ciências biológicas. A pesquisa em alimentos e em saúde é um pouco mais desenvolvida do que a em clima, mas essa área está em ascensão.
Quais são os principais centros de pesquisa?
Temos algumas instituições de pesquisa como o Centro de Pesquisa Científica e Industrial e a Comissão de Energia Atômica de Gana, que abriga o Instituto de Ciência e Tecnologia Espacial. A maioria das universidades também faz pesquisa, assim como minha instituição, a Autoridade de Proteção Ambiental.
Os países ricos investem 2% do PIB ou mais em pesquisa. Os em desenvolvimento, cerca de 1%. E Gana?
Estamos longe disso. Os pesquisadores recebem uma bolsa para fazer pesquisa em suas instituições. Ainda não temos um fundo nacional de pesquisa, mas há fundos menores, para a área de clima, de lixo eletrônico. Recebemos também apoio do exterior. Por exemplo, tenho uma pesquisa sobre modificação da radiação solar financiada pela iniciativa Degrees, uma ONG internacional que apoia pesquisas no hemisfério Sul sobre modificação da radiação solar como uma intervenção para reduzir o aquecimento global.
Por que anos atrás decidiu ter um papel ativo na política do seu país? Estive na área de pesquisa a vida toda. Produzo resultados que espero que embasem políticas públicas. Mas não vejo isso ocorrer. As pessoas em quem votamos para assumir cargos na política, em altos escalões, não valorizam os resultados da pesquisa. Então, pensei: “Por que não ir lá eu mesma para fazer algo?”. Tentei duas vezes uma vaga no Parlamento, mas perdi a eleição. É um mundo completamente diferente do da ciência. Depois da segunda tentativa, decidi apoiar um candidato a presidente. Ele venceu as eleições, mas depois decepcionou. Agora sou diretora-executiva da Autoridade de Proteção Ambiental de Gana. Lá, consigo implementar algumas ideias a partir de resultados de pesquisas. Ainda estou no meu espaço, mas voltada para a implementação.
O que mais gostaria de dizer?
É preciso informar as pessoas sobre a necessidade de os países colaborarem uns com os outros. Os desenvolvidos devem apoiar financeira e tecnologicamente os países em desenvolvimento. Temos um único planeta e a atividade de cada país afeta os demais. Quando falamos sobre fundos de adaptação, queremos apenas nos adaptar ao impacto das mudanças climáticas. Não é receber dinheiro externo para ficarmos ricos. O mundo desenvolvido precisa entender a situação.
O mundo desenvolvido tem sido míope em relação a isso?
Não diria míope, mas muitos deles não se importam com os países em desenvolvimento. E os países em desenvolvimento os apoiam ao oferecer seus recursos naturais. l



Expedições científicas financiadas pela Iniciativa Amazônia+10 começam a ir a campo em lugares pouco explorados da região
SARAH SCHMIDT

Por pouco, o fóssil de uma tartaruga gigante não passou despercebido por pesquisadores que faziam uma expedição científica em Assis Brasil, no Acre, próximo à fronteira com o Peru e a Bolívia. O paleontólogo Francisco Ricardo Negri, da Universidade Federal do Acre (Ufac), decidiu parar e vasculhar na margem de um paredão à beira do rio Acre enquanto outros dois colegas se dirigiam para uma área próxima. “De repente, Negri passou a gritar e gesticular para a gente, eufórico. Havia um casco aflorando no chão”, lembra uma das líderes da expedição, a paleontóloga Annie Schmaltz Hsiou, do campus de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP). Tratava-se de Stupendemys geographicus, considerada a maior espécie de água doce do mundo, que viveu entre 10,8 milhões e 8,5 milhões de anos atrás, durante o período conhecido como Mioceno. “É o fóssil mais com-


pleto de uma tartaruga gigante já encontrado no Brasil”, ela conta.
A descoberta ocorreu em meados de junho, logo no primeiro dia de campo. Foram necessários quatro dias para escavar todas as partes encontradas. “Identificamos fragmentos da carapaça, ossos da cintura pélvica, parte de um fêmur e até outros elementos ósseos da perna”, diz Hsiou. O casco preservado media mais de 1 metro, e dados preliminares indicam que o animal completo teria cerca de 2 metros de comprimento, próximo ao descrito na Venezuela em 2020, o maior que se tinha registro até então. A equipe de 16 pessoas não estava preparada para localizar um fóssil dessa magnitude e precisou improvisar uma base de madeira para transportá-lo. Hsiou, que estuda fósseis no Acre há 20 anos em parceria com a Ufac, já havia passado por aquela região em 2022 junto com o paleontólogo Edson Guilherme da Silva, da Ufac – na ocasião, ficou nove dias sem comunicação. Dessa vez, a equipe contou com internet via satélite enquanto permaneceu acampada na beira do rio.
A viagem integra um dos 22 projetos de expedições científicas financiadas por um edital da Iniciativa Amazônia+10, inicialmente uma articulação entre as fundações de amparo à pesquisa (FAP) dos nove estados da Amazônia e a FAPESP (daí o nome +10), que foi ampliada e hoje reúne o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), instituições e agências de fomento de 25 estados brasileiros e de países como Reino Unido, Alemanha, Suíça, China, França e Guiana. Ao todo, os projetos selecionados reúnem 733 pesquisadores de 87 instituições, participando de incursões à floresta para coletar dados, espécimes biológicos e minerais e peças
Pesquisadores encontraram fóssil de Stupendemys geographicus, maior espécie de tartaruga de água doce do mundo, às margens do rio Acre
da cultura nativa e popular da região. Segundo Rafael Andery, secretário-executivo da Iniciativa Amazônia+10, sete projetos já começaram seus trabalhos de campo, enquanto outros estão em fase de preparação. Uma das exigências do edital era de que as expedições tivessem equipes multidisciplinares coordenadas por pesquisadores financiados por ao menos duas fundações estaduais que aderiram à chamada, sendo um deles vinculado a instituições de ensino superior ou de pesquisa com sede na Amazônia Legal.
As expedições têm a ambição de ampliar a compreensão sobre a diversidade social e biológica da Amazônia, levantando dados em regiões pouco exploradas anteriormente. “Partimos de quatro objetivos nessa chamada. O primeiro foi superar vieses espaciais e taxonômicos, incentivando pesquisas em áreas e grupos pouco estudados. O segundo, valorizar trabalhos de campo ambiciosos, apoiados com recursos para logística, infraestrutura e equipamentos”, explica Andery.
Os outros, segundo ele, foram garantir relação respeitosa com os territórios, com participação efetiva de indígenas, ribeirinhos e quilombolas nas equipes de pesquisadores; e investir em planos de armazenagem dos dados, preferencialmente em instituições da Amazônia Legal.
Entre os dados disponíveis sobre a biodiversidade da Amazônia, de acordo com o edital, há uma predominância de informações sobre plantas e aves, enquanto insetos, como borboletas, por exemplo, além de fungos e bactérias, permanecem pouco conhecidos. Um dos projetos selecionados busca ajudar a suprimir parte dessa lacuna. No primeiro trabalho de campo, que ocorreu em julho, um grupo formado por biólogos, botânicos, indígenas e militares coletou mais de mil amos-


Bolsistas indígenas, biólogos, botânicos e militares coletaram mais de mil amostras de fungos, solos e plantas em locais como a serra da Bela Adormecida, no Amazonas
tras de fungos, solos, angiospermas, samambaias e briófitas, às margens do rio Curicuriari, região conhecida como serra da Bela Adormecida, próxima a São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas e em outras áreas ao redor da cidade, como na comunidade Itacoatiara-Mirim.
A serra alcança 1.200 m de altitude e para chegar até lá o grupo seguiu por três horas de barco até a comunidade São Jorge e, de lá, mais meia hora de trilha pela mata. “Em 10 dias de trabalho, alcançamos apenas metade da subida, devido à grande quantidade de espécies encontradas. Muitas delas parecem ser desconhecidas e agora serão analisadas”, explica o botânico Charles Zartman, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), um dos coordenadores da expedição.
Oprojeto conta com 11 bolsistas indígenas com nível de ensino médio apoiados pelo CNPq, das etnias Yanomami, Tucano, Baré, Nheengatu e Baniwa. “A ideia também é despertar o interesse dos jovens em plantas e fungos que fazem parte do cotidiano de suas aldeias”, explica Zartman. Os pesquisadores participaram de um encontro promovido pela Associação de Mulheres Yanomami na região, quando apresentaram a pesquisa e ouviram a comunidade sobre suas demandas. “Muitas mulheres mais velhas pediram que auxiliássemos na criação de catálogos de plantas medicinais tradicionais, porque suas filhas já não acreditam em suas receitas”, conta. “Uma de nossas ações será construir, junto a elas, um catálogo ilustrado com fotos, nomes



científicos e nomes indígenas, além de registros de usos tradicionais.”
O principal custo da expedição, segundo Zartman, está nos deslocamentos. “Mais de 60% do nosso orçamento é voltado para pagar combustível para os barcos.” Foram utilizados bongos, grandes canoas feitas de madeira adaptadas com motor de rabeta, mas de velocidade lenta. Já as voadeiras, que são barcos de porte menor, são usadas para viagens mais rápidas. “De São Gabriel até o distrito de Pari-Cachoeira, próximo à Colômbia, são três dias de voadeira, e de bongo cerca de uma semana”, explica o botânico. O projeto conta com apoio de sete FAP – do Amazonas, Pará, Maranhão, Paraíba, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal –, tem apoio internacional do UK Research and Innovation (Ukri), principal agência de fomento à pesquisa do Reino Unido, e do Natural History Museum, de Londres.
Ainda na serra da Bela Adormecida, outra expedição foi a campo em outubro e deve fazer in-


Vanessa Nambikwara, (abaixo, à dir.), moradora da Terra Indígena Tirecatinga, em Sapezal (MT), mostra a araruta, um dos cultivos que ainda resistem à perda de alimentos tradicionais
cursões em áreas de altitude acima de 500 metros no Pará e em Roraima. Os pesquisadores buscam insetos aquáticos, com destaque para as libélulas, além de zooplâncton, camarões e caranguejos. Boa parte desses animais nas coleções da Amazônia provêm de coletas em áreas próximas aos grandes centros como Manaus e Belém. “Vamos a locais que nunca foram amostrados. Quase nada se sabe sobre os insetos aquáticos dessa região”, conta o biólogo Renato Tavares Martins, que estava no Inpa quando o projeto foi aprovado e atualmente trabalha na Fiocruz do Rio de Janeiro.
Ele explica que, hoje, muitos modelos de distribuição de espécies se baseiam em dados de áreas de baixa altitude da Amazônia, enquanto faltam informações representativas de regiões mais altas, cuja fauna é adaptada a diferentes condições, como temperaturas mais baixas. “Com as mudanças climáticas, é provável que várias espécies se desloquem para ambientes de maior altitude. Conhecer essa fauna é fundamental para aperfeiçoar estratégias de conservação”, observa Martins. Um terceiro eixo do projeto é o ensino e a divulgação científica, e a equipe pretende, em diálogo com os povos originários, produzir livros sobre biologia e ecologia de insetos em línguas indígenas – o primeiro deles foi lançado em outubro em português, tukano e nheengatu, e aborda o que são os insetos aquáticos. A equipe reúne pesquisadores em diferentes estados – Amazonas, Roraima, Pará, Goiás, São Paulo, Santa Catarina e Rio de Janeiro.

Um projeto que também já fez sua primeira viagem a campo busca resgatar costumes culinários e reduzir a insegurança alimentar em aldeias da Terra Indígena Tirecatinga, em Sapezal, em Mato Grosso. Em agosto, pesquisadores das universidades federais de Mato Grosso (UFMT) e de Goiás (UFG) e da Embrapa Alimentos e Territórios, de Maceió (AL), visitaram aldeias, como a Serra Azul, e fizeram entrevistas com moradores do local. “A Terra Indígena está em região de Cerrado cercada por grandes fazendas de algodão, milho e outras culturas, o que gera forte pressão sobre as comunidades locais”, explica o biólogo Moacir Haverroth, da Embrapa, pesquisador integrante do projeto.
“As aldeias são pequenas e dispersas. Esse contexto resultou em perda de sementes tradicionais e dificuldades para garantir a segurança alimentar. Ao mesmo tempo, avançou o consumo de alimentos industrializados e ultraprocessados.” O intuito é resgatar variedades de importância alimentar e adaptadas ao ambiente, que os indígenas relatam ter perdido. “Entre elas estão o milho tradicional ‘fofo’, de grãos coloridos, comum entre os povos indígenas, além do milho de pipoca e do amendoim, hoje ausentes ou restritos em algumas comunidades”, diz Haverroth. Outra etapa do projeto envolve a avaliação dos modos de preparo nas aldeias. “A ideia é pensar, junto com as comunidades, em formas alternativas para ampliar o armazenamento e a durabilidade dos alimentos, e de promover o aproveitamento integral deles, a fim de que possam, inclusive, ser comercializados”, conta o biólogo.

As expedições ainda buscam explorar o conhecimento de outros povos tradicionais. “Também os quilombolas têm uma forte ligação com a floresta amazônica”, explica o engenheiro ambiental Celso Henrique Leite Silva Junior, do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam), coordenador de um projeto que fará sua primeira expedição no ano que vem – e conta com o financiamento de quatro FAP, incluindo a FAPESP, além de apoio internacional. “Analisamos mapas que mostraram a sobreposição entre lacunas de dados de biodiversidade e territórios quilombolas na Amazônia.” A ideia é usar tecnologias como sensoriamento remoto e sequenciamento de DNA ambiental para fazer inventários da biodiversidade, e as expedições devem ocorrer em duas comunidades no Pará e uma no Amazonas. O projeto conta com cerca de 50 cientistas, dois deles quilombolas. “Geralmente, pesquisadores de fora vão para a Amazônia, coletam os dados de que precisam com a ajuda dos povos tradicionais, depois publicam seus artigos e nunca mais aparecem. Queremos criar um tipo de monitoramento de longo prazo a que os próprios quilombolas possam dar continuidade.” l
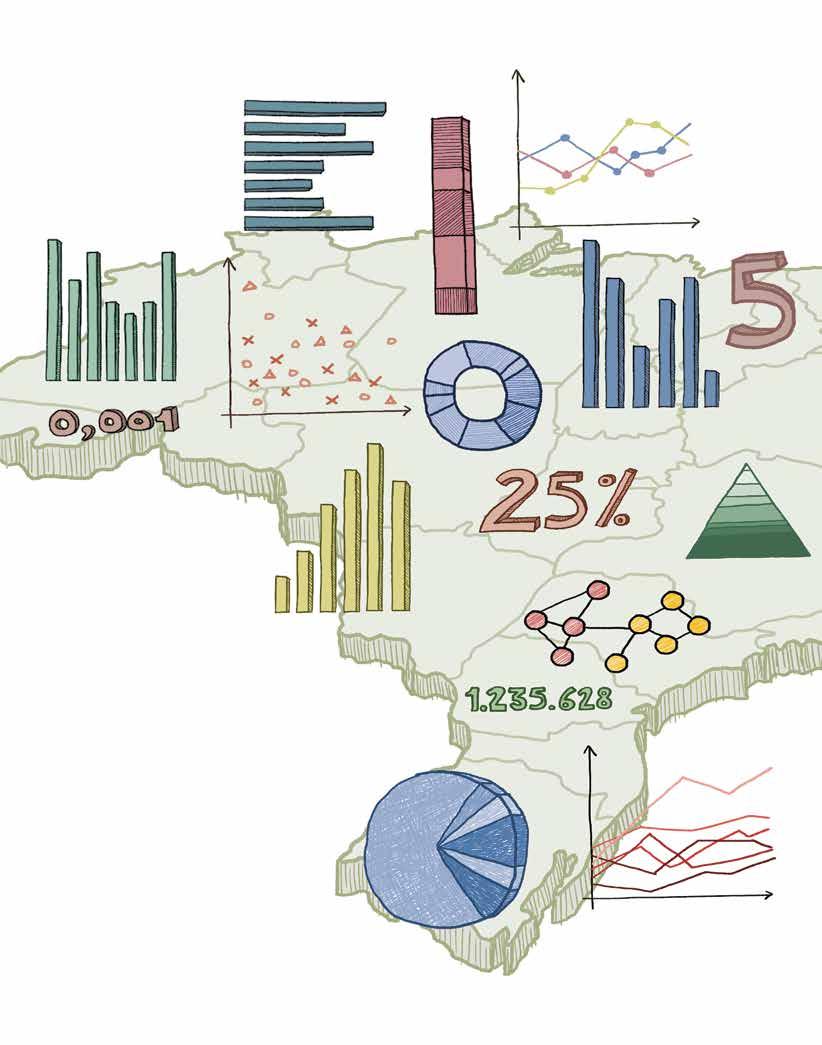
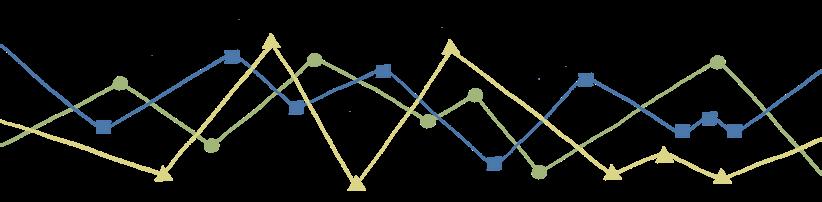
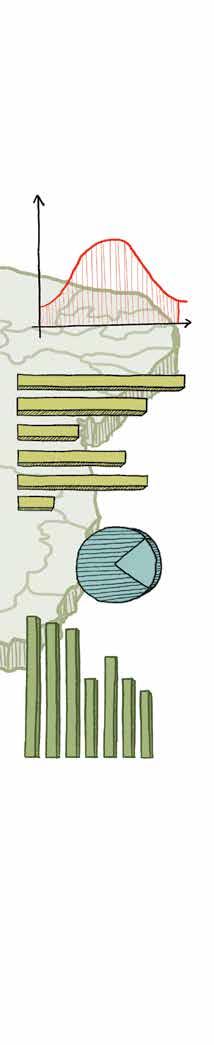
Rede busca produzir métricas estaduais de ciência, tecnologia e inovação que sejam comparáveis
FABRÍCIO MARQUES
ilustrações
Uma parceria entre os governos federal e estaduais vai receber R$ 13,3 milhões em investimentos para melhorar a qualidade dos indicadores de ciência, tecnologia e inovação (CT&I) produzidos pelas 27 unidades da federação. Os recursos, oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), serão aplicados em um programa de bolsas e em infraestrutura computacional a fim de que cada estado brasileiro tenha ao menos um cientista de dados trabalhando na coleta de informações e na produção de métricas que sigam metodologias comuns e sejam comparáveis. A intenção da iniciativa é selecionar os cientistas de dados entre gestores que já atuam na área nos estados, mas outros profissionais, como pesquisadores de universidades, também poderão concorrer às bolsas.
O treinamento dos especialistas será feito a partir do primeiro semestre de 2026 pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict), unidade de pesquisa do governo federal que atua na área de ciência de informação. “O cientista de dados será um elemento fundamental para a alimentação dos indicadores e a avaliação das informações recolhidas por cada unidade da Federação. Como vai ser um bolsista, não estará sujeito a mudanças políticas nos governos estaduais”, afirma Allan Kardec Benitez, presidente do Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Ciência, Tecnologia e Inovação (Consecti) e titular da secretaria mato-grossense.
A colaboração faz parte dos esforços para a recriação da Rede Nacional de Indicadores Estaduais de CT&I, que será composta por técnicos e gestores do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), de governos estaduais e suas
fundações de amparo à pesquisa – os cientistas de dados treinados pelo Ibict apoiarão os trabalhos. Primeiramente, eles vão escolher os indicadores de interesse comum que serão gerados pelas unidades da federação e definir as metodologias para sua produção. Uma versão anterior dessa rede foi instituída em 2011, mas acabou sendo desmobilizada em 2016. “O objetivo principal da rede é o de promover a integração dos sistemas de ciência e tecnologia do governo federal e dos estados, criando fluxos de envio de informação e estabelecendo métodos de tratamento das bases de dados, para permitir que tomadores de decisão possam desenhar políticas públicas e planejar suas ações com base em evidências. O que estamos construindo é um grande pacto nacional em favor dos indicadores estaduais de Ciência, Tecnologia e Inovação”, explica a socióloga Verena Hitner Barros, diretora do Departamento de Governança e Indicadores de Ciência e Tecnologia do MCTI. Desde 1998, o MCTI produz e atualiza anualmente os Indicadores Nacionais de CT&I, que têm uma seção dedicada aos dispêndios realizados pelos estados em atividades de ciência e tecnologia e em pesquisa e desenvolvimento (P&D). Segundo Barros, a produção de métricas estaduais comparáveis sempre foi uma tarefa desafiadora, dada a heterogeneidade de informações geradas em cada unidade da federação. “Os dispêndios em CT&I não estão somente na linha dos gastos orçamentários da secretaria da área. Também podem estar na área de gestão, de planejamento e, em alguns locais, estão mais concentrados na educação superior. Tentamos rastrear todos os investimentos utilizando uma lista de palavras-chave em bases de dados estaduais. As alterações na estrutura dos governos estaduais não são incomuns e dificultam os trabalhos. Muitas informações estão
disponíveis publicamente, mas outras precisam ser requisitadas, em alguns casos recorrendo à Lei de Acesso à Informação”, afirma. “Apesar do esforço da equipe do MCTI para gerar métricas abrangentes, não é incomum que, no momento da divulgação, os secretários e representantes de fundações de amparo à pesquisa se queixem de que os indicadores estão incompletos ou não correspondem às suas estimativas”, conta Barros.
Em 2011, o MCTI criou pela primeira vez uma rede de representantes dos estados para selecionar fontes de informação comuns e harmonizar as metodologias de cálculo dos dispêndios. “Os estados dispunham de dados com fontes muito variadas e a rede promovia oficinas presenciais com os gestores uma vez por ano para tentar homogeneizar a qualidade dos indicadores. Era um trabalho bastante intenso, que durava dois dias, e era interessante para colocar em contato e promover uma troca de experiências entre as pessoas dedicadas à produção das métricas em diferentes localidades”, lembra Joana Santa Cruz, que participou daquela rede representando a FAPESP – atualmente, é gerente-adjunta da Gerência de Planejamento, Acompanhamento Financeiro e Indicadores (GPAFI) da Fundação. Ela destaca que a ideia das bolsas para cientistas de dados pode ser importante para criar estruturas estáveis encarregadas da produção de estatísticas nos estados. “Havia uma certa rotatividade das pessoas que participavam das oficinas da rede. Com frequência, os técnicos que se capacitavam acabavam deslocados para outras atividades e sua expertise se perdia.”
Com a desmobilização da rede, cada estado seguiu produzindo dados com métodos próprios. Em 2020, a FAPESP, que tem entre suas missões a geração de indicadores de ciência e tecnologia de São Paulo, desenvolveu uma metodologia inovadora no país para calcular os investimentos em pesquisa e desenvolvimento, que incorporou informações obtidas de uma pesquisa primária, desenhada segundo as recomendações do Manual Frascati, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE (ver Pesquisa FAPESP nº 297). Desde 2018, as instituições públicas e privadas que realizam atividades de ciência e tecnologia
no estado passaram a responder a questionários eletrônicos, fornecendo, a cada dois anos, informações detalhadas sobre seu quadro de pessoal, suas receitas e suas despesas. Essas informações são complementadas e cotejadas com as originárias de fontes oficiais sobre orçamentos, balanços, recursos das agências de fomento, entre outras.
A abrangência das organizações contempladas no cálculo dos dispêndios também cresceu: além das instituições de pesquisa estaduais e federais, foram incorporadas as de natureza privada e as instituições de atendimento à saúde que fazem pesquisa, como hemocentros e hospitais públicos ou filantrópicos. A nova abordagem substituiu a anterior, baseada exclusivamente em fontes secundárias, que não permitem enxergar, na maior parte dos casos, o montante efetivamente investido. Essa e outras métricas sobre atividades de CT&I de São Paulo estão disponíveis no endereço indicadorescti.fapesp.br, um site lançado pela Fundação em abril. “A nova metodologia permite identificar com precisão quem fornece e quem executa os recursos dedicados à pesquisa, que é a forma adotada tradicionalmente por muitos países e que segue as recomendações da OCDE”, explica o economista Sinésio Pires Ferreira, assessor da GPAFI/FAPESP. “Fundações de amparo à pesquisa de vários estados nos procuraram para conhecer a metodologia e seria importante que ela fosse adotada nacionalmente, para garantir indicadores mais abrangentes e comparáveis entre si e com outros países”, afirma.
O presidente do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap), Márcio de Araújo Pereira, diz que um dos propósitos do pacto nacional é ampliar o rol de estatísticas apuradas, incorporando novos temas
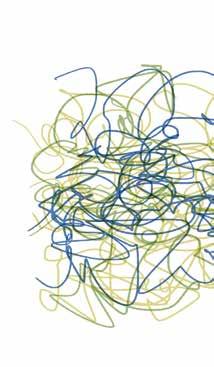
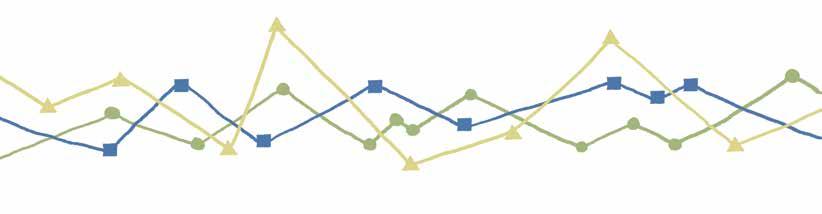

de interesse do governo federal e dos estados. “Há uma demanda em várias regiões, por exemplo, por métricas de inovação com um viés ambiental”, afirma. Um ponto de referência poderá ser as recentes edições temáticas da Pesquisa de Inovação Semestral, produzidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com financiamento da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), que abordaram o uso de tecnologias digitais avançadas e a adoção de práticas ambientais nas empresas. “Estamos discutindo quais indicadores são essenciais e vamos buscar bases de dados existentes que possam apoiá-los e desenvolver metodologias comuns para gerar dados comparáveis. Isso será importante para que o Brasil reduza desigualdades regionais e construa políticas alinhadas às vocações de cada estado”, conta Pereira, que é diretor-presidente da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul. Outro foco deve ser o cruzamento de informações que permitam enxergar a participação de homens e mulheres em atividades de CT&I. “Hoje, há pouca informação comparável entre os estados que leve em conta o gênero de pesquisadores e empreendedores”, diz Barros, do MCTI. A criação da rede era uma demanda dos secretários de Ciência e Tecnologia e Inovação. Eles se ressentiam da ausência de dados que permitissem ver o que estados com realidades próximas às suas estavam conseguindo realizar. “A função principal dos indicadores estaduais de inovação está ligada à construção de políticas públicas e à mensuração de recursos aplicados nos ecossistemas estaduais e do Distrito Federal. Seu objetivo direto não é comparativo, mas demonstrar como diminuir as desigualdades regionais”, afirma Benitez, do Consecti. O conselho atua em uma outra frente
para gerar parâmetros de interesse de secretarias. Em parceria com a Diretoria de Desenvolvimento da Gestão Pública e Políticas Educacionais da Fundação Getulio Vargas, começou a elaborar um Índice de Desenvolvimento Inovador, aplicável em unidades da federação e em municípios brasileiros, com financiamento de cerca de R$ 1 milhão do Banco Interamericano de Desenvolvimento. O índice deve ser divulgado no ano que vem.
Barros, do MCTI, observa que a busca por métricas estaduais mais refinadas faz parte de um a mplo esforço para melhorar a qualidade de dados sobre CT&I no país. “Vínhamos de um período em que indicadores nacionais importantes deixaram de ser atualizados”, explica, referindo-se à apuração do número de pesquisadores por milhão de habitantes e dos dispêndios privados em pesquisa e desenvolvimento no país, comprometidos, respectivamente, pela interrupção por alguns anos da realização do Censo dos Grupos de Pesquisa, que voltou a ser feito em 2023, e da Pesquisa de Inovação (Pintec) do IBGE, que será retomada no ano que vem (ver Pesquisa FAPESP nº 355). “A realidade é que somos melhores em confrontar os nossos dados nacionais com os da Suécia, França e Holanda, porque produzimos seguindo os Manuais de Oslo e Frascati, do que comparar o Rio Grande do Norte com o Rio Grande do Sul”, afirma Barros, referindo-se a metodologias para produção de informações sobre CT&I adotadas internacionalmente. “Com a padronização, buscamos também poder comparar nossos estados com outros países, o que faz sentido em razão do porte e da diversidade do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação.” l
Físico da UFPA vencedor do Prêmio
José Reis fala sobre ações de popularização da ciência na região amazônica
SARAH SCHMIDT
Ofísico paraense Luís Carlos Bassalo Crispino, de 54 anos, foi o vencedor do 45º Prêmio José Reis de Divulgação Científica e Tecnológica, concedido neste ano na categoria Pesquisador e Escritor pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Duas décadas atrás, ele criou com colaboradores o Laboratório de Demonstrações do então Departamento de Física da Universidade Federal do Pará (UFPA), para receber alunos da graduação e de escolas da região, além de um projeto que promove palestras sobre física. As iniciativas foram o embrião do Centro Interativo de Ciência e Tecnologia da Amazônia, cuja nova sede, no campus da universidade, foi aberta à visitação em 2022, e que atende estudantes de escolas públicas e privadas. Crispino é coordenador do Programa de Pós-graduação em Física da UFPA e lidera o grupo de pesquisa Gravity at Amazonia (Gravazon), dedicado principalmente ao estudo de buracos negros. Ele falou sobre suas atividades em uma conversa por videochamada com Pesquisa FAPESP
Entre as atividades de divulgação científica que realiza, qual teve mais influência na conquista do prêmio?
Acredito que o reconhecimento veio pelo conjunto da obra. São mais de duas décadas com trabalhos voltados para a divulgação da ciência. Começamos em 2004, com o Laboratório de Demonstrações, inspirado em um modelo que conheci quando fiz a graduação na USP. A princípio, recebíamos o público da própria universidade, os alunos dos cursos de graduação, mas depois ampliamos para alunos de escolas públicas e particulares, tudo de maneira gratuita. Tem também o projeto Física e Tecnologia para a Escola, que leva cientistas, professores e estudantes universitários para realizar palestras em escolas. Dentro dele, criamos as Palestras Vocacionais, com foco em orientação de estudantes, e mais adiante o projeto Meninas na Ciência. Esse último, inclusive, surgiu da vivência pessoal com minha esposa, Ângela Burlamaqui Klautau, que também é física. Esses projetos somados culminaram na criação do Centro Interativo de Ciência e Tecnologia da Amazônia.
Qual o tamanho do público atendido?

Podemos receber grupos de até 200 pessoas por dia, às segundas, quartas, quintas e sextas. Às terças realizamos seminários internos para capacitação da equipe. E aos sábados oferecemos treinamento para alunos que querem participar das olimpíadas brasileiras de Astronomia e Astronáutica, e de Foguetes. Começamos tudo em uma salinha e desde 2022 funcionamos em um prédio de dois andares, com mais de 10 salas, incluindo biblioteca e sala de reparos. Criamos também o Museu Interativo da Física, onde as pessoas entram e manipulam os equipamentos, sempre com supervisão, tanto para garantir a segurança quanto para preservar os materiais. O museu foi pensado para ser um ambiente bem-acabado, com uma experiência sensorial e educativa mais rica.
Vocês já levaram atividades para comunidades ribeirinhas e indígenas. Como foram as experiências?
Sim. Um exemplo marcante foi o eclipse anular do Sol que ocorreu em outubro de 2023, um fenômeno raro, que dessa vez pôde ser observado na Amazônia. O próximo só vai ser visto por aqui em 100 anos. Eu estava em Portugal, mas orga-

nizei tudo a distância com a Secretaria Municipal de São Félix do Xingu, onde o fenômeno poderia ser visto de maneira completa. A atividade principal aconteceu na cidade, com vários telescópios para observação do eclipse, mas pedi que também levássemos equipamentos para uma aldeia indígena. O vídeo do evento ficou emocionante, com trilha sonora feita com música indígena. Já colocamos equipamentos num barco e levamos até uma comunidade ribeirinha. A ideia é, um dia, termos um barco próprio que possa navegar entre as dezenas de ilhas de Belém, parar em cada uma delas e oferecer essa experiência. Esse é o sonho.
Falando de sua trajetória acadêmica, o senhor começou a graduação em física e engenharia na UFPA em 1987, mas transferiu o curso de física para a Universidade de São Paulo, na capital paulista. Por quê?
Na época, a UFPA vivia outro momento. Não havia massa crítica suficiente, nem em termos de docentes, nem de estrutura acadêmica. Sempre estudei muito por conta própria, mas sentia que, se tivesse acesso a uma formação mais bem estru-
Crispino no Centro Interativo de Ciência e Tecnologia da Amazônia, em Belém turada, poderia me desenvolver melhor. Meu pai me ajudava, apesar de eu ter tido bolsa de estudos. Fui, inclusive, bolsista de iniciação científica da FAPESP. Na USP, tive acesso não só às disciplinas experimentais mais elaboradas, como também conheci o Laboratório de Demonstrações do Instituto de Física, que foi rebatizado de Ernst Wolfgang Hamburger [1933-2018], idealizador do projeto nos anos 1970. O espaço tinha e ainda tem aparelhos para fazer experimentos de magnetismo, óptica, mecânica, eletricidade, acústica e termodinâmica. Esse laboratório da USP serviu de inspiração para o que criamos em Belém.
O senhor também ajudou a implementar, na UFPA, o primeiro programa de doutorado em física da região amazônica. Que obstáculos teve de superar?
O mestrado em física da instituição, criado em 1986 como o primeiro da Amazônia, enfrentou dificuldades iniciais pela escassez de docentes com doutorado e só teve a primeira dissertação concluída 10 anos depois. Após cobranças da Capes [Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior] nos anos 1990, ajudei a reestruturar o programa em 2003. Qualificamos o corpo docente, ampliamos a produção científica e reduzimos o tempo gasto na preparação de dissertações, o que permitiu a criação do doutorado sete anos depois. Hoje, o grupo Gravazon, que coordeno, tem reconhecimento internacional e forma alunos da graduação ao doutorado, a maioria da própria região, com excelência.
Como vê o papel da divulgação científica hoje?
Vivemos um momento de ataque às universidades, de negacionismo e de descrédito da ciência em parcela significativa da população e acredito que isso está também relacionado ao comportamento de alguns cientistas e membros da comunidade acadêmica. Faltaram mais palestras, eventos públicos, espaços em que fosse possível mostrar à sociedade o que se faz dentro da academia.
Há várias iniciativas de divulgação da ciência nas plataformas digitais. Qual é a importância de ir além delas?
Não tenho perfis pessoais em redes sociais, mas todas as nossas iniciativas têm página na internet, Instagram, Facebook, canal no YouTube. Mas também acredito muito na experiência presencial. Quando você vê um vídeo, como saber se aquilo realmente aconteceu ou se é uma montagem? Se a pessoa está ali, presencialmente, ela aciona, gera a faísca, acende a lâmpada girando a manivela – e vivencia a ciência. Existe aquela máxima: “Se você me conta, eu esqueço. Se você me ensina, eu lembro. Se você me envolve, eu aprendo”. O aprendizado está ligado à vivência.
Qual é o papel das escolas e de seus laboratórios nesse cenário?
Não sei se a escola que eu frequentava tinha laboratório, mas certamente não fui a ele nas aulas. Isso acontece porque uma aula de laboratório exige muito. O professor precisa preparar o espaço antes, dar a prática e depois arrumar tudo de novo, já que cada turma pode realizar experimentos diferentes. Vejo a escola como peça-chave na divulgação científica. Mesmo em regiões sem internet, se o professor conseguir apresentar a ciência de forma adequada, podemos avançar significativamente. l
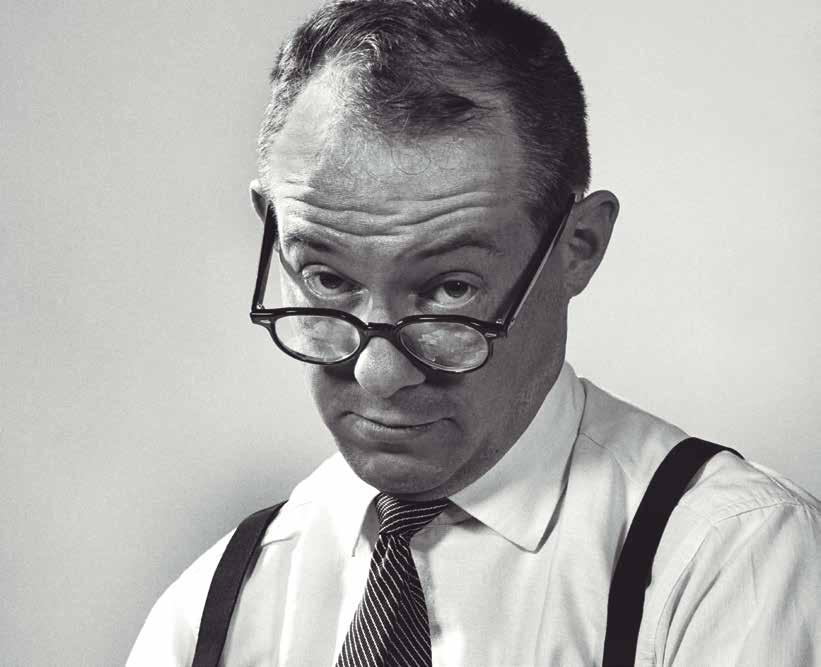
Jornalistas privilegiam publicações de revistas consagradas, com as quais estão familiarizados, e tendem a ignorar artigos de periódicos mais jovens
Um estudo divulgado em agosto na revista Journalism Practice, da editora Taylor & Francis, revelou vieses na forma como repórteres de ciência escolhem assuntos para abordar em seus textos, que podem ter impacto na percepção do público sobre a produção do conhecimento. O objetivo do trabalho era mapear procedimentos utilizados por um grupo de 23 desses jornalistas para identificar artigos divulgados nos chamados periódicos predatórios – aqueles que publicam trabalhos de baixa qualidade, apenas em troca de dinheiro – e compreender como os profissionais entrevistados decidem se uma revista é ou não confiável como fonte de informação.
A conclusão foi que a maioria segue estratégias que poderiam ser classificadas mais como conservadoras do que criteriosas. Em vez de avaliar se um artigo tem resultados robustos e se o periódico em
que ele foi publicado segue boas práticas, os jornalistas buscam se resguardar privilegiando a produção de revistas consagradas e consolidadas, com as quais já estão familiarizados, e tendem a ignorar o conteúdo publicado em periódicos mais jovens. Um dos entrevistados disse que nunca teria contato com periódicos predatórios porque “aqueles que consulto são bastante bem estabelecidos”. Outro explicou: “Não preciso ir tão longe para obter informações... Não olho além dos periódicos tradicionais”.
Segundo o trabalho, jornalistas também fazem confusão entre os periódicos predatórios e os de acesso aberto, revelando desconfiança em relação a publicações acadêmicas que disponibilizam gratuitamente todo o seu conteúdo on-line, cobrando taxas de autores. Os entrevistados demonstraram hesitação diante de periódicos localizados no Sul global, que abarca países em desenvolvimento na América Latina, Ásia e África, preferindo os títulos sediados nos países mais desenvolvidos.
Apesquisa qualitativa foi feita com 23 jornalistas das áreas da saúde, ciência e ambiente que trabalham em seis países: Suíça, Dinamarca, Inglaterra, México, Canadá e Estados Unidos. Os autores do artigo – Alice Fleerackers, da Universidade de Amsterdã, nos Países Baixos, Juan Pablo Alperin, da Universidade Simon Fraser, no Canadá, e Laura Moorhead, da Universidade Estadual de São Francisco, nos Estados Unidos – escolheram apenas profissionais europeus e da América do Norte. A maioria deles era composta por freelancers e tinha 10 ou mais anos de experiência na profissão.
De acordo com o trio de autores, os critérios adotados pelos repórteres podem gerar alguns efeitos negativos. Um deles tem a ver com a percepção de que eles estão seguros ao publicar o conteúdo de revistas tradicionais. “Esses títulos publicam muitas pesquisas importantes e de alta qualidade que o público deveria conhecer. Mas também publicam estudos problemáticos, como pode acontecer com qualquer revista”, disse a autora Alice Fleerackers, em entrevista para o periódico britânico Technology Networks Outro problema se relaciona à ideia de que periódicos que exigem taxas em dinheiro para publicar o conteúdo on-line, como são os de acesso aberto, têm um risco maior de serem predatórios. É certo que revistas desonestas costumam ter estratégias de cobrança agressivas, mas uma parte significativa dos títulos de acesso aberto mantém boas práticas editoriais. Esse tipo de viés na seleção de artigos, como observa o estudo, pode privar os leitores da produção de periódicos de acesso aberto de alta qualidade e também ignora o fato de que cada vez mais revistas, inclusive algumas das mais tradicionais, estão migrando para um modelo de negócios basea-
do no pagamento de taxas impostas aos autores, em substituição à cobrança de assinaturas dos leitores. Um sinal a que os participantes da pesquisa disseram prestar atenção ao avaliar a confiabilidade de um periódico foi a presença ou não de erros ortográficos, gramaticais ou de digitação em textos publicados –eles avaliam que uma revista de “alta qualidade” edita cuidadosamente tudo o que publica. “Mas, às vezes, a responsabilidade pela revisão recai sobre os autores do estudo, não sobre o editor”, observa Fleerackers. “Como o idioma dominante na publicação de periódicos continua sendo o inglês, isso representa uma desvantagem para acadêmicos que não têm o inglês como primeira língua, como muitos do Sul global.” Para ela, os repórteres precisariam passar por uma “alfabetização crítica em pesquisa” para que consigam basear suas escolhas na qualidade da produção científica e não na reputação do periódico em que ela é publicada. “Todos nós podemos ser impactados por vieses, como reputação e prestígio, ao tomar decisões. O importante é que os jornalistas não deixem que isso anule sua capacidade de tomar decisões mais criteriosas e críticas”, afirmou.
O designer alemão Andreas Siees, que realiza pesquisas sobre comunicação científica na Universidade de Ciências Aplicadas de Bonn-Rhein-Sieg, na Alemanha, buscou outros indicadores que não a presença de erros ortográficos para tentar distinguir revistas predatórias das que seguem boas práticas. Em agosto, ele publicou um artigo na revista Scientometrics em que compara as características visuais de artigos publicados em periódicos sérios e em predatórios – seu objetivo era ajudar qualquer leitor, jornalistas, inclusive, a discernir uns dos outros. A análise abrangeu 443 publicações legítimas e 555 publicações predatórias de acesso aberto e envolveu uma avaliação de metadados, elementos de layout (tipografia, espaços em branco, tamanho de página e figuras) e outros atributos visuais.
Siees encontrou algumas diferenças. A extensão média do texto em publicações potencialmente predatórias era de 35,3 mil caracteres, pouco mais da metade dos 66,8 mil caracteres contados em artigos legítimos. Papers fidedignos também usavam corpos tipográficos de tamanho menor e uma variedade maior de fontes na comparação com os desonestos, que em geral empregam as pré-instaladas no computador, como Arial, Times New Roman, Calibri e Cambria. Mas não é fácil enxergar os sinais suspeitos a olho nu, porque as editoras predatórias frequentemente imitam a identidade visual de editoras estabelecidas. No conjunto de dados que Seiss obteve, o design adotado pela editora Elsevier em seus artigos foi o mais frequentemente emulado, seguido pelo layout da Springer. “As principais distinções visuais entre as predatórias e as legítimas que nosso estudo identificou residem em características de design sutis”, escreveu no paper. l MÔNICA MANIR
Fraudadores usam e-mails ligados a instituições científicas para tentar manipular revisão de artigos
Um levantamento divulgado pela plataforma OpenReview.net, que gerencia a avaliação por pares de trabalhos apresentados em conferências científicas, mostrou que fraudadores usam truques cada vez mais sofisticados para se fazer passar por pesquisadores respeitáveis e enganar editores de periódicos. O estudo, publicado no repositório de preprints ArXiv, investigou milhares de perfis de revisores de artigos científicos, que se cadastraram na plataforma entre 2024 e 2025, dispostos a avaliar trabalhos sobre inteligência artificial. Em 94 casos, constatou-se que eram golpistas usando identidades falsas.
O surpreendente é que conseguiram burlar uma barreira que se imaginava segura: usavam e-mails vinculados a instituições científicas reais. Um cuidado tomado por editores para prevenir a ação de pessoas desonestas é verificar o domínio dos e-mails que elas usam. Quando o correio eletrônico pertence a universidades ou a instituições de pesquisa conhecidas, as chances de manipulação são consideradas remotas. Já e-mails privados são vistos como mais vulneráveis.
O truque dos falsificadores requer algum tipo de cumplicidade dentro da instituição de pesquisa. Eles utilizam e-mails secundários, que recebem mensagens canalizadas de diferentes endereços de correios eletrônicos e costumam ser adotados por usuários para centralizar e organizar correspondências pessoais e profissionais. Para o esquema funcionar, é necessário que alguém dentro da universidade ou do instituto de pesquisa crie um endereço eletrônico em nome de um pesquisador e cadastre a
conta secundária para receber suas mensagens. Dessa forma, quem controla o e-mail secundário o utiliza para abrir um perfil falso de revisor em sites de periódicos e, assim, tem a chance de receber e avaliar manuscritos apresentados por ele próprio ou outros participantes do esquema – periódicos com processos falhos ou negligentes de revisão por pares são mais suscetíveis a manipulações. “Passar-se por outra pessoa usando um endereço de e-mail institucional adiciona mais uma camada de desafio na detecção de criminosos”, disse ao site Retraction Watch o primeiro autor do preprint, o cientista da computação Nihar B. Shah, da Universidade Carnegie Mellon, em Pittsburgh, nos Estados Unidos, que integra o conselho da OpenReview.
O estudo propõe medidas adicionais de prevenção, como verificar se o e-mail informado pelo revisor é o mesmo que ele usa em suas publicações e tornar público o cadastro de revisores de periódicos, para que a comunidade científica ajude a monitorar atividades suspeitas.
Cinco pesquisadores chineses têm prêmios científicos revogados após se envolverem em violações éticas
AAssociação Chinesa de Ciência e Tecnologia (Cast), organização não governamental que congrega 167 sociedades profissionais de pesquisadores e engenheiros, anunciou em setembro a revogação de prêmios que havia concedido a cinco cientistas envolvidos em casos de má conduta recentes. O comunicado afirma que o engenheiro Zhou Xinyuan e o cientista da computação Chen Zheyu, que venceram o Prêmio Ciência e Tecnologia da Juventude da China respectivamente em 1986 e 1990, perderam a honraria porque foram condenados por desvio de recursos públicos para pesquisa.
O cirurgião Sun Beicheng, ganhador do mesmo prêmio em 1992, o médico clínico Zhao Yuanjin, vencedor em 2022, e a paleontologista Liu Jianni, que recebeu o 11º Prêmio Jovens Mulheres Cientistas da China em 2014, também tiveram de devolver medalhas, certificados e valores em dinheiro que haviam recebido. Os três foram punidos por promoverem lobby impróprio na disputa por recursos em um ciclo de avaliação de projetos de pesquisa em 2021. Eles abordaram e pediram ajuda a membros do painel de revisão dos projetos, o que é proibido, e também compartilharam informações sigilosas sobre o certame. O caso de Beicheng foi um dos mais rumorosos. Ele foi acusado publicamente de má conduta pelo Ministério de Ciência e Tecnologia chinês em julho de 2024, apenas três meses depois de liderar uma cirurgia no hospital da Universidade Médica de Anhui, em Hefei, que teve repercussão internacional –sua equipe transplantou um fígado de porco geneticamente modificado em um paciente com câncer hepático.
Conhece a nossa newsletter de integridade científica?

Acesse o QR Code para assinar nossas newsletters

TOTAL DA INDÚSTRIA BRASILEIRA, POR ÁREAS/FUNÇÕES DE NEGÓCIOS (PINTEC SEMESTRAL 2024)
Percentual de empresas que utilizaram informação em formato digital, segundo faixa de pessoal ocupado – por áreas/funções de negócios
De 100 a 249
De 250 a 499
Com 500 e mais empregados
➔ O uso de informação digital em empresas das indústrias extrativa e de transformação ampliou-se em quase todas as áreas/ funções de negócios
➔ O maior percentual de empresas digitalizadas foi registrado na área de administração
➔ Foi na produção e desenvolvimento de produtos, processos e serviços que mais cresceu o número de empresas digitalizadas, no período
➔ A proporção de empresas que usaram tecnologias digitais é mais elevada nas de grande e médio portes. Entre as de menor porte1, foram muito expressivas as áreas de administração (99,0%) e comercialização (93,4%)
TOTAL DA INDÚSTRIA BRASILEIRA, POR TIPO DE TECNOLOGIA (PINTEC SEMESTRAL 2024)
Percentual de empresas que utilizaram tecnologia digital avançada, segundo faixa de pessoal ocupado – por tipo de tecnologia
De 100 a 249
De 250 a 499
Com 500 e mais empregados
➔ Em 2024, das empresas ouvidas, 89,1% empregaram pelo menos uma das tecnologias citadas no gráfico
➔ O crescimento do uso de IA foi o mais expressivo
➔ Nos três estratos de porte das empresas, a computação em nuvem foi a tecnologia mais usada em 2024
➔ O aumento da eficiência foi o principal benefício no uso das tecnologias digitais avançadas
Prêmios de 2025 destacam pesquisas sem aplicação prática imediata, mas que abrem possibilidades tecnológicas
Outubro sempre traz a trepidação da mais alta láurea do mundo científico, concedida em grande parte pela Real Academia de Ciências da Suécia – exceção para o prêmio de Fisiologia ou Medicina e o da Paz, respectivamente a cargo dos comitês do Nobel do Instituto Karolinska, também na Suécia, e Norueguês, nomeado pelo Parlamento do país. A premiação de cada categoria tem o valor de 11 milhões de coroas suecas (aproximadamente R$ 6,23 milhões) e inclui uma medalha a ser entregue na cerimônia prevista para 10 de dezembro. A data homenageia o aniversário da morte do químico sueco Alfred Nobel (1833-1896), que fez fortuna com a invenção da dinamite e, em testamento, deixou parte do dinheiro para premiar pessoas que deram contribuições importantes para a humanidade.
Os temas contemplados foram variados, e todos de importância fundamental nas respectivas áreas da ciência. O mecanismo celular que evita que doenças autoimunes graves sejam mais comuns pode contribuir para o desenvolvimento de fármacos e reduzir a rejeição a órgãos transplantados. As propriedades físicas da escala atômica e subatômica estão na base da busca por construir computadores quânticos. A construção de cristais usando íons de metal e moléculas orgânicas surgiu da curiosidade e da busca pela beleza, mas já deu origem a aplicações importantes para a absorção de gases e fluidos. A centralidade da inovação tecnológica para a economia sustentada também teve lugar no pódio. Um escritor húngaro e uma política venezuelana completam o quadro de medalhas. Como é frequente acontecer, foi uma seleção essencialmente masculina. Entre os 14 laureados há duas mulheres – apenas uma em categoria acadêmica.

Os textos com mais informações sobre os ganhadores do Nobel estão disponíveis no site da revista
Entre 1995 e 2003, três imunologistas identificaram e detalharam como funciona um mecanismo de freio do sistema imune: Shimon Sakaguchi, de 74 anos, atualmente professor na Universidade de Osaka, no Japão; Mary Brunkow, de 63 anos, gerente de programas do Instituto de Biologia de Sistemas (ISB), em Seattle, Estados Unidos; e Frederick Ramsdell, de 64 anos, da companhia de biotecnologia Sonoma Biotherapeutics, em São Francisco, também nos Estados Unidos. “As descobertas desses pesquisadores foram decisivas para a nossa compreensão de como o sistema imunológico funciona e por que nem todos desenvolvem doenças autoimunes graves”, afirmou Olle Kämpe, presidente do comitê Nobel no anúncio da premiação.
Como parte do sistema de defesa humano, os linfócitos T atacam invasores, mas podem também voltar-se contra o próprio organismo. Essas células com funcionamento inadequado são identificadas e eliminadas no timo, mas algumas às vezes escapam. Dessas falhas surgem doenças como o diabetes tipo 1, a esclerose múltipla ou o lúpus eritematoso sistêmico.
“Alguns pesquisadores achavam que poderia existir um segundo mecanismo de controle”, conta o imunologista Jorge Kalil Filho, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FM-USP). Essa ideia ganhou nome quando o japonês Sakaguchi descreveu um novo tipo de célula – o linfócito T regulador, ou T reg –, que funcionaria como o vigilante dos vigilantes.
Enquanto isso, os norte-americanos Brunkow e Ramsdell buscavam identificar



uma alteração genética responsável por tornar uma variedade de camundongo, conhecido como escamoso (scurfy mouse), propensa a ter várias doenças autoimunes. Trabalhando na empresa Celltech Chiroscience, no estado de Washington, eles encontraram uma alteração em um gene novo, que chamaram de Foxp3.
Em 2001, Brunkow, Ramsdell e colaboradores descreveram alterações no gene Foxp3 responsáveis tanto pela poliendocrinopatia e enteropatia ligada ao cromossomo X (Ipex), uma doença autoimune, quanto pelas doenças do camundongo escamoso. Quem encontrou a conexão entre o gene Foxp3 e a atuação dos linfócitos T reguladores, dois anos mais tarde, foi o grupo de Sagakuchi. Entender como essas células reguladoras funcionam pode levar a tratamentos para doenças autoimunes, reduzir o risco de rejeição a órgãos transplantados e aprimorar o combate a alguns cânceres.
No ano do centenário da formulação das bases da mecânica quântica, que estuda o comportamento da matéria e da energia na escala atômica e subatômica, o Nobel premiou os trabalhos de três pesquisadores que, 40 anos atrás, expandiram os domínios desse ramo da física: o britânico John Clarke, da Universidade da Califórnia em Berkeley, de 83 anos, o francês Michel Devoret, da Universidade de Califórnia em Santa Bárbara e da Universidade Yale, de 72 anos, e o norte-americano John Marti-
nis, da Universidade da Califórnia em Santa Bárbara, de 67 anos.
Trabalhando juntos em Berkeley, os três fizeram experimentos em 1984 e em 1985 nos quais mostraram que estranhas propriedades quânticas, que pareciam ser restritas ao mundo dos átomos e das partículas subatômicas, também podiam ser criadas e medidas em sistemas macroscópicos, muito maiores. Eles foram os primeiros a medir o tunelamento quântico em um circuito eletrônico supercondutor, no qual a corrente elétrica flui sem encontrar nenhuma resistência, ou seja, sem perda de energia, quando o sistema é resfriado a temperaturas próximas do zero absoluto. O tunelamento está por trás do decaimento radioativo de átomos e pode estar associado à superposição de estados quânticos (quando uma partícula pode se encontrar em dois estados simultaneamente). A descoberta do fenômeno em sistemas macroscópicos abriu caminho para pesquisas que tentam desenvolver computadores quânticos a partir da manipulação do funcionamento de bits quânticos (qubits) criados e mantidos em circuitos supercondutores.
O circuito supercondutor montado pelos ganhadores do Nobel foi a materialização de uma proposta teórica de um artigo publicado em 1981 no periódico Physical Review Letters pelo físico brasileiro Amir Caldeira, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), e seu orientador de doutorado na Universidade de Sussex, no Reino Unido, o físico britânico Anthony Leggett. “Nosso trabalho serviu de base para os experimentos dos três físicos que ganharam agora o Nobel”, comenta Caldeira.
Entre os 14 laureados há duas mulheres –apenas uma em categoria acadêmica
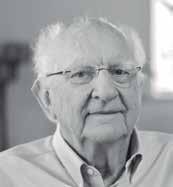



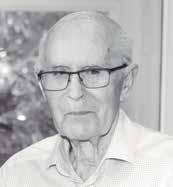

Metade do valor do prêmio foi para o norte-americano Joel Mokyr, de 79 anos, da Universidade Northwestern, Estados Unidos, que identificou “os pré-requisitos para crescimento sustentável por meio de progresso tecnológico”. A outra parte é dividida pelo canadense Peter Howitt, 79, da Universidade Brown, nos Estados Unidos, e pelo francês Philippe Aghion, 69, do Collège de France e do Instituto Europeu de Administração de Empresas (Insead), na França, e da London School of Economics, no Reino Unido, que desenvolveram uma “teoria de crescimento sustentado através do conceito de destruição criativa.”.
“Mokyr é o mais conhecido defensor da relação entre a expansão do Iluminismo, a partir do século XVII, e a Revolução Industrial”, afirma o economista Thales Zamberlan Pereira, da Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV-EESP). “Ele defende que o pulo do gato da Inglaterra foi dar uso prático às macroinovações, as grandes criações que emergiram no Iluminismo, e que é preciso haver ideias disruptivas, que gerem choques de produtividade.” É o que também postulam Aghion e Howitt, os outros dois laureados. “Eles buscam mostrar que a inovação tecnológica é fundamental para explicar o crescimento econômico de longo prazo”, explica Luciano Nakabashi, da Faculdade de Economia e Administração (FEA), do campus de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP).
Na década de 1990, os dois pesquisadores introduziram em um modelo de crescimento econômico o conceito de “destruição criativa”, desenvolvido no
século XX pelo economista austríaco Joseph Schumpeter (1883-1950). “Por meio desse modelo matemático, eles conseguiram mostrar que a geração de tecnologia é uma das fontes de crescimento econômico”, explica Nakabashi, atualmente pesquisador visitante na Universidade Brown.



O japonês Susumu Kitagawa, de 74 anos, o britânico Richard Robson, de 88 anos, e o jordaniano naturalizado norte-americano Omar Yaghi, de 60 anos, desenvolveram uma nova forma de arquitetura molecular: as estruturas metalorgânicas (MOF, de metal-organic frameworks) são compostas por íons metálicos (átomos de metal com carga elétrica positiva) conectados por moléculas orgânicas de maneira a formar cristais com amplos espaços internos. Eles são capazes de captar e armazenar substâncias, além de estimular reações químicas e conduzir eletricidade.
Em 1989, Robson criou um cristal com cavidades nas quais, em fluido, íons conseguiam entrar e sair. Mas a construção era instável e se desmontava facilmente. O problema foi resolvido, separadamente, pelos outros dois laureados. Kitagawa, atualmente na Universidade de Kyoto, no Japão, em 1997 obteve estruturas metalorgânicas que conseguiam capturar e liberar gases como metano, oxigênio e nitrogênio, sem a presença de água. Ele também conseguiu, mais tarde, produzir cristais flexíveis, que se dilatam quando cheios e voltam a encolher quando se esvaziam.
O grupo de Yaghi, hoje no campus de Berkeley da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, chegou em 1995 a uma estrutura bidimensional com junções de cobalto, capaz de armazenar moléculas com tanta estabilidade que podia ser aquecida a 350 graus Celsius (°C) sem perder as propriedades. A estrutura que ele anunciou em 1999 conseguia ser estável a 300 °C mesmo vazia e ganhou fama pela proeza de, em poucos gramas, ter uma superfície equivalente a um campo de futebol.
No Brasil, vários grupos de pesquisa fazem uso dessa ferramenta. O da engenheira química Liane Rossi, do Instituto de Química da Universidade de São Paulo (IQ-USP), desenvolve sistemas de adsorção de gases e testa MOF para condicionamento de solo. O da engenheira química Christiane Arruda, do campus de Diadema da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), dedica-se a restituir qualidade à água de abastecimento.
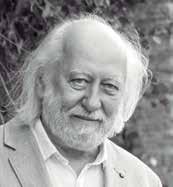
Com 40 anos de carreira, o húngaro László Krasznahorkai “é um escritor bastante desafiador”, segundo Manoel Ricardo de Lima, professor da Escola de Letras da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio). “Sua escrita é pautada por frases longas, que acompanham o fluxo de consciência dos personagens, e nas
histórias trata das pessoas desvalidas, dos famintos, dos miseráveis, de quem não tem lugar no mundo”, prossegue. Nascido em 1954 no interior da Hungria, Krasznahorkai estreou na literatura com Sátántangó, em 1985. A ação se concentra na chegada de um forasteiro a um vilarejo decadente húngaro durante o regime comunista, que é acolhido como um salvador da pátria pelos moradores. O livro foi publicado no Brasil em 2022 pela Companhia das Letras, com título original e em edição vertida do húngaro para o português pelo tradutor e psicanalista paulista Paulo Schiller. “László costuma dizer que pensa suas frases e só as escreve quando já estão mentalmente finalizadas. São frases densas, muitas vezes sem pontuação, que se estendem por páginas e tornam a tradução muito trabalhosa”, conta o tradutor.
A editora tem no programa o lançamento de mais dois romances do autor: O retorno do Barão Wenckheim (2016) e Herscht 07769 (2021).
A ex-deputada venezuelana María Corina Machado é a principal voz da oposição aos governos de Hugo Chávez (1954-2013) e Nicolás Maduro. Aos 58 anos, vive na Venezuela. Seu mérito, segundo o comitê do Nobel, foi ser uma figura unificadora da oposição na exigência de eleições livres na Venezuela, em um tempo em que “a democracia está sob ameaça”.
“Dada a importância simbólica do Nobel da Paz, a vitória de Machado indica não somente a preocupação de setores da comunidade internacional com relação à Venezuela, mas também o desejo de chamar a atenção do mundo para a necessidade de se realizar uma transição política no país sul-americano”, observa o cientista político Guilherme Casarões, professor da Universidade Internacional da Flórida (FIU), nos Estados Unidos, que considera a premiada uma figura controversa. l
8
Ig
Sátira ao prêmio Nobel completa 35 anos de homenagens a pesquisas inusitadas
A cerimônia que antecede o Nobel é uma sátira que celebra a criatividade e o bom humor na ciência. A ideia é fazer o público rir e, depois, pensar.
O tema central do ano foi a digestão, celebrada em uma miniópera sobre situações enfrentadas por gastroenterologistas e pacientes. Com esse enfoque, foi selecionado um estudo feito por japoneses que pintaram listras em vacas, como se fossem zebras, para saber se o padrão faz diferença em ataques de mosquitos (e faz, as disfarçadas são menos atacadas), e outro sobre qual tipo de pizza um lagarto africano ( Agama agama) prefere. No campo da física, quatro cientistas buscaram desenvolver a receita perfeita de espaguete cacio e pepe.
Dois dos estudos homenageados exploraram os efeitos do álcool. Na categoria aviação, um grupo de
pesquisadores foi premiado por uma avaliação sobre o que acontece com morcegos embriagados, e o Ig Nobel da paz foi para uma equipe que demonstrou que a bebida alcóolica pode melhorar as habilidades de falar uma língua estrangeira.
Na lista de trabalhos que se conectam ao tema do ano por abordarem temas indigestos, está o prêmio de engenharia e design, que foi entregue a uma dupla de indianos, que propôs uma solução para acabar com o mau cheiro dos sapatos ao criar uma sapateira com luz UV-C capaz de matar as bactérias que causam o chulé. Na literatura, o médico norte-americano William Bennett Bean (1909-1989) foi homenageado por sua obra detalhada sobre o crescimento das próprias unhas por 35 anos.
Outras curiosidades alimentares também inspiraram os cientistas
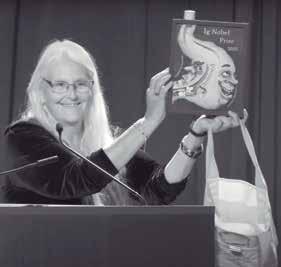
premiados na categoria de pediatria, sobre o que acontece com o leite materno quando mulheres lactantes comem muito alho: o odor do leite mudou e os bebês mamaram mais. O fim da cerimônia foi marcado pela tradicional chuva de aviões de papel e o consolo do matemático Marc Abrahams, criador e apresentador da premiação, para os cientistas: “Se você não ganhou um Ig Nobel este ano – e especialmente se você ganhou –, tenha mais sorte no ano que vem!”.

Técnica de quebra de alimentos é ensinada pelos macacos-prego mais velhos aos mais jovens
Conjunto de artigos indica que comportamentos como o uso de instrumentos, técnicas para obter comida e dialetos de vocalizações de primatas devem ser alvo de preservação
As tradições culturais entre primatas, cetáceos e outros animais precisam ser levadas em conta na hora de formular estratégias de conservação para essas espécies, de acordo com pesquisadores brasileiros. Identificadas com frequência cada vez maior, tais culturas não humanas estão em risco por conta dos impactos causados por seres humanos e podem servir como argumento importante em favor da proteção dos hábitats dessas espécies.
“Muito da diversidade comportamental que observamos em primatas como os macacos-prego, com seu uso de ferramentas, vem da transmissão social”, explica a bióloga Patrícia Izar, do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (IP-USP). “Ou seja, depende de condições peculiares de desenvolvimento dos organismos, as quais, por sua vez, estão ligadas a características do hábitat, ao contato com alimentos, a possibilidades de forrageamento e a materiais que podem desaparecer dependendo do impacto sofrido pelo ambiente desses animais.”
Izar assina um dos artigos publicados em maio em uma edição especial do periódico científico Philosophical Transactions of the Royal Society B sobre o tema. A bióloga brasileira e suas colegas Erica van de Waal, da Universidade de Lausanne, na Suíça, e Martha Robbins, do Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva, na Alemanha, abordaram a questão com base no que se sabe sobre os primatas não humanos. Outros trabalhos na mesma edição, com participação de brasileiros, traçam um panorama dos dois grandes grupos de cetáceos, os odontocetos (como golfinhos, orcas e cachalotes) e os misticetos (o grupo das baleias-azuis e jubartes).
No caso dos primatas, é comum que as tradições culturais, transmitidas de uma geração a outra, envolvam a fabricação e o uso de ferramentas. Tanto chimpanzés (Pan troglodytes), residentes na parte central da África, quanto macacos-prego da espécie Sapajus libidinosus, presentes em áreas de Cerrado e Caatinga, usam uma combinação de
instrumentos que os cientistas classificam como martelos e bigornas. São, respectivamente, uma pedra segurada pelo animal e outra maior, ou uma raiz grande e dura, no chão, combinadas como kit para quebrar coquinhos ou outros frutos duros. A prática é apreendida pelos mais novos ao observarem os mais velhos.
Sem poder contar com mãos e polegares, os cetáceos não são tão hábeis na manipulação de instrumentos, mas há casos desse tipo entre eles –certos golfinhos-nariz-de-garrafa (Tursiops aduncus) seguram esponjas no focinho para cutucar com mais segurança o leito marinho, em busca de presas. Tradições culturais que não envolvem necessariamente ferramentas físicas, porém, também estão sendo documentadas em diferentes espécies do grupo.
Há técnicas especializadas de caça, como a combinação entre batidas da cauda na superfície da água e uma “rede de bolhas” produzida por baleias-jubarte (Megaptera novaeangliae) na costa do estado norte-americano do Maine para desorientar suas presas. Já no litoral de Santa Catarina, movimentos vigorosos de cabeça e saltos de golfinhos-nariz-de-garrafa (localmente chamados de botos-da-tainha) indicam aos pescadores o melhor momento para capturar peixes como tainhas. Os mamíferos marinhos se beneficiam com o duplo ataque à presa – uma tradição cultural que, nesse caso, parece ter evoluído de forma cooperativa entre humanos e cetáceos.
Segundo o biólogo brasileiro Mauricio Cantor, do Instituto de Mamíferos Marinhos da Universidade Estadual do Oregon (OSU), nos Estados Unidos, ainda não está claro como os botos aprendem a colaborar com os pescadores catarinenses. Em estudos no município de Laguna, liderados por pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), alguns dados sugerem que o aprendizado da técnica ocorre de forma vertical, ou seja, de mães para filhotes.
“Mas suspeitamos que a transmissão horizontal, ou seja, o aprendizado entre indivíduos da mesma geração, também tenha um papel importante. E nos parece que existe ainda o papel
da competição, que limita o acesso ao comportamento”, diz ele. Isso porque não há espaço para que todos os botos de Laguna sejam “parceiros” dos pescadores. “Temos visto que alguns indivíduos monopolizam os locais e oportunidades de interação, restringindo a difusão da técnica para a população toda”, explica Cantor, que assina um dos artigos na Philosophical Transactions.
Por fim, os complexos sistemas de comunicação sonora entre cetáceos também contam com um componente de transmissão cultural, como o surgimento de “dialetos” de jubartes nas diferentes subdivisões do oceano. As canções dessas baleias podem até sofrer mudanças abruptas, que lembram o espalhamento de novos estilos musicais humanos, com grandes alterações na sequência e no ritmo de notas, como mostrou artigo da bióloga marinha Maria Isabel Gonçalves, da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), e colaboradores, publicado em 2024 na Marine Mammal Science
“Detectamos esse tipo de transição na população brasileira de baleias-jubarte em 2017 e 2018”, conta Gonçalves, coordenadora do Projeto Baleias na Serra e autora de um dos artigos da edição especial, em parceria com colegas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). “Todos os anos esse canto vai evoluir, às vezes mais rápido, outras vezes mais devagar, mas uma mudança abrupta assim ainda não tinha sido registrada aqui.
Ainda não conseguimos identificar se é algo que vem do contato com outras populações da espécie na Antártida, o que possibilita intercâmbios culturais e mudanças de dialetos.”
EROSÃO CULTURAL
Enquanto a parceria entre botos e pescadores é uma interação com benefícios mútuos que vem de uma tradição centenária no litoral brasileiro, há mudanças em tradições culturais dessas espécies que estão ligadas a processos recentes de degradação ambiental.
Estudos com bugios (gênero Alouatta) feitos há cerca de uma década pela primatóloga mexicana Ariadna Rangel Negrín, da Universidade de Veracruz, revelaram, por exemplo, que o repertório comportamental desses macacos perde metade de sua diversidade quando as populações ficam restritas a áreas pequenas de mata. Os bugios, embora sejam exclusivamente herbívoros em condições normais, diante do desmatamento podem apelar para o consumo de ovos de aves ou até de carne descartada por humanos, com consequências potencialmente graves para seu sistema digestivo. Um caso parecido, com o consumo de sobras de churrasco, foi registrado nos últimos anos com bugios do Rio Grande do Sul (ver Pesquisa FAPESP nº 334).
No caso dos macacos-prego S. libidinosus estudados por Izar e seus colegas da USP, as áreas onde eles vivem estão sendo reduzidas pelo uso agrícola, que aumentou 300% entre 1987 e 2017, enquanto alterações climáticas em um dos locais

acompanhados pela equipe têm levado a uma diminuição da produção dos frutos duros de palmeiras, que estão entre os principais alvos da tradição dos martelos e bigornas.
O ambiente mais homogêneo e, portanto, menos complexo limita o repertório comportamental dos macacos e gera competição pelos recursos disponíveis. “Os indivíduos imaturos também passam a ter menos oportunidades para o processo de aprendizado longo que vai permitir que eles dominem as tradições locais”, explica Izar. Além disso, aumenta o risco do contato direto com pessoas, que podem não resistir à tentação de oferecer comida a macacos aparentemente dóceis. “Se eles passam a enxergar o ser humano como fonte de alimentos, isso pode levar a conflitos e interações agressivas.”
EVITANDO O PIOR
Para a pesquisadora da USP, evitar que esse processo de deterioração progrida exige o reconhecimento de que é preciso proteger o nexo entre características culturais, condições ambientais e cada uma das espécies.
“Sapajus libidinosus, por exemplo, não é uma espécie ameaçada – ainda”, diz ela. “Ou seja, não é simples obter recursos para proteger seu hábitat segundo a lógica atual. Mas, quando mostramos que a espécie apresenta transmissão cultural, práticas culturais únicas podem se transformar em bandeira para a preservação daquela área, com argumentos que vão além da conservação da diversidade genética da espécie.”
Por outro lado, a compreensão dos padrões de transmissão cultural também ajuda a enxergar recursos estratégicos para a saúde das populações de animais. “Ao compreender a evolução do canto das jubartes, por exemplo, conseguimos entender como ocorrem intercâmbios entre populações, se elas usam outras áreas de alimentação e reprodução que não as tradicionais, e quais são as suas rotas migratórias”, diz Maria Isabel Gonçalves. No caso dos cetáceos, o inverso é verdadeiro: há indícios de que a perda de tradições culturais sobre rotas migratórias, provavelmente causada pela redução populacional durante a atividade baleeira predatória no século XX, fez com que algumas espécies de baleias “esquecessem” que determinada região seria favorável para a busca de alimento ou a reprodução.
Entender melhor como esses padrões estão relacionados com a viabilidade de longo prazo de populações e espécies inteiras depende, em parte, de estudos sobre os processos de transmissão cultural, como os que estão sendo feitos sobre os botos de Santa Catarina. Diferentes espécies podem acabar adotando padrões bastante distintos – entre os cetáceos, certas comunidades de orcas parecem seguir um sistema bastante

rígido de transmissão cultural pela via materna, com sociedades estáveis e relativamente fechadas, enquanto tendências circulam de forma mais fluida entre grupos de golfinhos.
Mesmo no que diz respeito a animais considerados tão carismáticos quanto macacos e baleias, o que se sabe sobre essa diversidade ainda é muito pouco. Izar e suas coautoras estimam que menos de 3% das espécies de primatas identificadas até agora já foram objeto de estudos sobre suas tradições culturais. Já o levantamento feito por Mauricio Cantor e seus colaboradores indica que, na literatura científica, 70% dos estudos sobre táticas de forrageamento de odontocetos estão ligados a apenas três espécies (orcas e dois tipos de golfinhos-nariz-de-garrafa). “A concentração de estudos se dá, parcialmente, pela logística – são espécies cosmopolitas, carismáticas, abundantes e vivem relativamente próximo da costa”, diz ele sobre os cetáceos.
“O desequilíbrio tem a ver, em parte, com tradições de pesquisa”, analisa Izar. “No caso dos macacos neotropicais [das Américas], existe uma tradição de estudos de ecologia e de conservação, e um certo abandono dos estudos de comportamento.” Segundo a pesquisadora, culturas como o uso de ferramentas foram observadas no Cerrado e na Caatinga, biomas que começaram a ser estudados mais tardiamente pela primatologia. “Tudo está sendo destruído e mudando muito rápido”, lamenta. l
O projeto e os artigos científicos consultados para esta reportagem estão listados na versão on-line.
Os dialetos de baleias-jubarte podem sofrer mudanças abruptas 2
Estudo internacional destaca situações ambientais nas quais é melhor camuflar-se ou exibir coloração de alerta para escapar de predadores
MARIA GUIMARÃES
Quando o objetivo é escapar de predadores, uma boa estratégia envolve cores que se misturam ao ambiente, como um marrom que some quando uma mariposa está pousada no tronco de uma árvore. No caminho oposto, algumas espécies têm cores berrantes que alardeiam um gosto ruim ou propriedades tóxicas. Em busca de entender quais situações favorecem cada uma dessas opções, o ecólogo evolutivo britânico William Allen, da Universidade de Swansea, no Reino Unido, organizou um experimento realizado nos cinco continentes, conforme relata artigo publicado em setembro na revista Science. A capa da edição estampa uma fotografia de um abelharuco, ave africana do gênero Merops, comendo uma borboleta colorida.
Em linhas gerais, quando há muitos predadores insetívoros e a competição é alta, as aves ficam mais propensas a atacar qualquer presa – mesmo aquelas aparentemente desagradáveis ao paladar. Nesse caso, ter a coloração de alerta (aposemática) deixa de ser uma vantagem.
Por outro lado, quando há muitos insetos aposemáticos em uma área, aumenta a chance de os predadores terem más experiências e aprenderem com elas, passando a evitar essas presas. Quando, ao contrário, há uma abundância de mariposas camufladas, ou crípticas, as aves treinam o olhar e ficam melhores em encontrá-las nos troncos. Os dados indicam ainda que esse disfarce não é eficaz em condições mais luminosas, porque fica mais fácil distinguir o animal do substrato.
O experimento buscou enganar aves predadoras de insetos com triângulos coloridos à guisa de mariposas. Eles eram pregados nas árvores junto com larvas vivas de tenébrios, um tipo de besouro, que podem ser obtidas comercialmente. Quando a larva sumia, era sinal de ataque por ave; quando os predadores eram vespas ou formigas, os pesquisadores encontravam a isca parcialmente consumida. Três colorações simulavam diferentes estratégias: marrom, semelhante à casca das árvores; listrada de laranja e preto, considerada uma coloração típica de alerta; e azul-turquesa e preto como controle, por ser igualmente fácil de enxergar, porém não comum na natureza.
Mariposas e borboletas são presas frequentes das aves insetívoras como esse cartaxo- comum (Saxicola rubicola), na Europa 1


Allen tomou o cuidado de imprimir as mariposas falsas em uma mesma impressora e enviar para os colaboradores que realizariam o experimento no Brasil, no Canadá, na República Tcheca, em Camarões, na Índia e na Austrália.
Ogrupo brasileiro foi liderado pelo biólogo Rhainer Ferreira, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FFCLRP-USP), junto com o entomologista Vinicius Lopez, à época seu aluno de doutorado. Por coincidência, o estudante procurou Allen em 2021 para pedir sugestões em um artigo que estava preparando sobre a coloração de formigas-feiticeiras –que na verdade são vespas da família Mutilidae (ver Pesquisa FAPESP nº 349). “Poderia ter sido só mais um e-mail perdido na caixa de entrada, mas ele causou uma guinada no meu doutorado”, conta o pesquisador, agora em estágio de pós-doutorado na Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM). Isso porque o britânico percebeu que a linha de pesquisa orientada pelo entomologista Rhainer Ferreira se encaixava no experimento global que tinha nascido em 2019, durante um congresso no qual especialistas em coloração se reuniram para pensar um trabalho conjunto. Allen convidou o estudante brasileiro a integrar o projeto. Lopez e seus colegas escolheram trabalhar na Reserva Biológica da Serra do Japi, em Jundiaí, interior paulista, uma floresta de Mata Atlântica, e na Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Vale Encantado, uma área de
Cerrado em Uberaba, Minas Gerais. “Foi o trabalho de campo mais cansativo que já fiz”, conta o entomologista. Ao longo de oito dias consecutivos, uma hora antes da aurora era preciso pregar mariposas falsas em 90 árvores sorteadas entre as 180 pré-selecionadas ao longo de uma trilha de 2 quilômetros (km). Depois disso, conferir todas elas ao meio-dia, de novo uma hora antes do pôr do sol e mais uma vez no dia seguinte, uma hora depois de o sol nascer (quando outras 90 árvores já tinham ganhado suas mariposas experimentais). Diariamente era necessário fotografar algumas delas, ao lado de um quadrado cinzento também impresso em Swansea, como controle de luminosidade. Era preciso, ainda, percorrer a trilha anotando as aves avistadas e gravando suas vocalizações, para gerar um catálogo da comunidade de predadores da área. As equipes dos outros quatro continentes faziam exatamente a mesma coisa. “À noite precisávamos cozinhar, jantar, lavar a louça, cortar os triângulos, sortear as árvores e quando víamos já era meia-noite, precisando acordar às 4h30”, conta Lopez.
“Achei os resultados muito interessantes”, avalia o biólogo Paulo Oliveira, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), que não participou do estudo.
“Entretanto, quando se faz algo muito grande, em uma ampla escala geográfica, perdem-se os detalhes locais que talvez expliquem melhor os resultados.” Por esse caráter global, ele ressalta, não é possível tirar muitas conclusões sólidas. Das condições nas quais o aposematismo ou a camuflagem se revelaram mais vantajosos, o estudo depreende uma tendência geral: a camuflagem é uma estratégia
Triângulos e larvas (à esq.) simulam insetos chamativos e discretos (abaixo)


O artigo científico consultado para esta reportagem está listado na versão on-line. menos estável, mais sujeita a alterações causadas por atividades humanas como modificações na luminosidade por desmatamento, ou na coloração das árvores por poluição. As cores vivas funcionam como alerta em qualquer ambiente, com alguma variação conforme a luminosidade e a comunidade de predadores presente. Para Oliveira, o estudo pode ser um rico ponto de partida para experimentos locais, em ecossistemas brasileiros distintos. “Seria interessante comparar a Mata Atlântica, o Cerrado e a Caatinga para investigar mais detalhes sobre a prevalência de insetos camuflados e aposemáticos nesses três biomas”, sugere, já que o objetivo do trabalho feito não era comparar, mas encontrar pontos em comum. Outra próxima etapa possível seria verificar as estratégias de defesa predominantes em diferentes florestas, para tirar a limpo se o que parece mais vantajoso é de fato favorecido pela seleção natural. “Seria um excelente próximo artigo”, concorda Lopez. l

Chifres, garras e pinças gigantes de artrópodes podem ajudar a resfriar ou esquentar o corpo
ENRICO DI
GREGORIO
Quando a Receita Federal apreendeu 99 besouros da espécie Megasoma gyas na mala de um japonês com voo marcado para a Tailândia, partindo do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo, um grupo de pesquisadores brasileiros e canadenses teve seu dia de sorte. A equipe queria descobrir se partes desproporcionalmente grandes do corpo de insetos e artrópodes – como as garras dos caranguejos –podiam servir para regular a temperatura desses animais. Os besouros apreendidos têm longos chifres pontudos.
“Os insetos foram levados para o Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo [MZ-USP] e conseguimos ter acesso a eles antes de serem eutanasiados e adicionados à coleção do museu”, conta o fisiologista Danilo Giacometti, pesquisador em estágio de pós-doutorado na USP, com bolsa da FAPESP. Ele é o autor principal dos dois artigos que resultaram da pesquisa e foram publicados em
O besouro-rinoceronte Megasoma gyas, da Caatinga, mantém constante a temperatura do chifre enquanto o corpo aquece
março e maio nas revistas Insect Science e Integrative and Comparative Biology, respectivamente.
Com os insetos em mãos, o primeiro passo do experimento foi aquecer o ambiente em até 30 graus Celsius (°C) e deixar exemplares dos besouros com chifres e sem chifres reagirem ao calor por 15 minutos. Depois, a equipe usou um aparelho para medir as temperaturas do corpo dos besouros a cada 30 segundos por 5 minutos.
Como resultado, o chifre manteve uma temperatura média durante o aquecimento e foi a primeira parte do corpo a resfriar depois que as temperaturas da sala pararam de subir. Foi o oposto do esperado, pois a hipótese era de que a hemolinfa, como é chamado o sangue dos insetos, fluiria para o chifre para não superaquecer o corpo e o tornaria mais quente, como ocorre nos tucanos. Em dias frios, o sangue dessa ave flui do bico para o corpo, esquentando o tórax do animal, mas em dias quentes parte da circulação se concentra no bico, que atua como um dissipador de calor (ver Pesquisa FAPESP n° 162). “Não encontramos o mesmo processo que ocorre nos vertebrados, provavelmente porque os insetos não controlam tão bem o fluxo de hemolinfa e o mecanismo de dissipação ativa de calor não ocorre”, conta o biólogo Alexandre Palaoro, da Universidade Federal do Paraná (UFPR), um dos autores.
Na dissipação ativa, um mecanismo fisiológico é ativado para a termorregulação. “É o caso de insetos voadores que tremem as asas antes de alçar voo para esquentar o corpo”, descreve Giacometti. Já a termorregulação passiva é uma consequência natural de partes do corpo que têm muita superfície e pouco volume e, por isso, ganham e perdem temperatura com facilidade. “Em M. gyas, o resfriamento do chifre indica que há um processo de dissipação passiva muito forte.”
Giacometti destaca, contudo, que a termorregulação ativa ainda não foi completamente descartada, porque alguns besouros aguentam temperaturas 1
de até 50 °C sem demonstrar sinais de estresse térmico. “Se esquentarmos mais o ambiente, talvez o besouro ative algum mecanismo que ainda não foi verificado.”
Além disso, a equipe detectou no tórax o maior aquecimento. É ali onde estão os músculos de voo, nos quais o fluxo de hemolinfa gera muito calor.
O experimento estimulou a criatividade do grupo e eles decidiram convidar o biólogo canadense Glenn Tattersall, da Universidade de Brock, no Canadá, autor principal do artigo sobre o bico do tucano, para se juntar ao grupo e escrever o trabalho publicado na revista Integrative and Comparative Biology. Nele, os pesquisadores reuniram os resultados de outros estudos com artrópodes que têm apêndices grandes em comparação ao corpo do animal e viram como eles se distribuem pelas regiões do mundo. Em geral, essas partes do corpo são resultado de evolução, em que os machos com as maiores presas atraíam fêmeas e ganhavam disputas com outros da espécie.
Depois de garimpar entre os poucos artigos sobre termorregulação em invertebrados, os biólogos reuniram estudos de três besouros – um gorgulho
(Lasiorhynchus barbicornis), uma tesourinha (Labidura xanthopus) e um besouro-veado (Lucanus cervus) – e dois caranguejos (Leptuca panacea e L. pugilator), todos com algum tipo de garra, chifre ou pinça grande.
Aequipe mapeou os animais conforme o ambiente em que vivem e descobriu que, em climas mais frios, a tesourinha tem apêndices maiores e os gorgulhos, menores, mas nos caranguejos e no besouro-veado não parece haver relação entre o tamanho e a temperatura do ambiente. Os resultados dos besouros indicam que as estruturas selecionadas pela evolução interferem no modo como os animais se relacionam com as várias temperaturas. Outra descoberta foi que a maneira como a termorregulação vai agir depende muito do formato das grandes partes do corpo. Se forem finas e longas, elas esquentam e esfriam rapidamente. Já estruturas volumosas e compactas esquentam e esfriam lentamente, retendo calor por mais tempo – como uma
2
boa garrafa térmica de café quente em um dia frio.
Sem ter participado dos estudos, o biólogo alemão Klaus Hartfelder, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da USP, considera “difícil ver uma função termorreguladora” no chifre de M. gyas. “A estrutura fixa é feita basicamente de cutícula, diferente do bico do tucano, que é altamente vascularizado, ou mesmo das patas de artrópodes, que têm vários músculos”, diz ele, que estuda a fisiologia de insetos.
Mesmo com essa ressalva, para Palaoro a composição do chifre não exclui por completo a circulação de hemolinfa. “São estruturas que estão muito perto do tórax, onde tem grande quantidade de músculos. Quando o besouro contrai e relaxa os músculos do corpo, toda a carapaça acompanha e recebe hemolinfa”, adiciona ele.
O gorgulho Lasiorhynchus barbicornis (à dir.) é menor em climas mais frios, e o caranguejo chama-maré Leptuca leptodactyla, com cerca de 1 centímetro de largura, tem garra desproporcional ao corpo

3

Embora tenha reservas com os experimentos com M. gyas, Hartfelder reconhece que os caranguejos e as tesourinhas podem conseguir regular o calor pela presença de músculos nas suas garras e pinças. “O mesmo ocorre com alguns insetos voadores que usam as asas para aquecer o corpo mesmo sem voar, e precisam desse aquecimento para alçar voo”, acrescenta.
O grupo já planeja novos estudos para testar hipóteses. Um caminho é tentar descobrir como animais de espécies com apêndices para luta grandes e pequenos reagem ao aquecimento e resfriamento. “Temos muitas questões básicas para responder. Ainda mais que qualquer apêndice, até um exoesqueleto, pode ter instrumentos de termorregulação”, pontua Giacometti. “Uma pergunta que queremos responder é em que medida os insetos ou artrópodes conseguem controlar o fluxo de hemolinfa para distribuir calor.” Palaoro lembra que é importante considerar não só o quanto os animais conseguem reter calor, mas também a sua capacidade em variar a temperatura corporal muito rapidamente. “Temos que ter em mente que são bichos muito pequenos. Para uma abelha, voar no sol ou na sombra é completamente diferente. Esse é o lado fascinante dos estudos de variação de temperatura”, conclui o pesquisador da UFPR. l
O projeto e os artigos científicos consultados para esta reportagem estão listados na versão on-line.
ANATOMIA
Neurocientistas completam trabalho de jovem pesquisadora – que morreu precocemente –sobre estruturas envolvidas na comunicação entre os hemisférios do cérebro
SOPHIA LA BANCA
Quando se pede para alguém apanhar um lápis com a mão esquerda e nomear o objeto em voz alta, ocorre uma troca de informações entre os dois hemisférios cerebrais. Uma área responsável pela sensibilidade tátil da mão esquerda, situada no hemisfério direito, transmite sinais para outra, no hemisfério esquerdo, que processa a fala. Há tempos se sabe que o que torna possível essa comunicação é uma estrutura chamada corpo caloso, um feixe robusto formado por dezenas de milhões de fibras da substância branca –os axônios, prolongamentos de neurônios (células executivas do sistema nervoso). Ele funciona como uma ponte, permitindo o intercâmbio de informações entre as diferentes regiões dos dois hemisférios. No ser humano, o corpo caloso chega a ter 10 centímetros (cm) de comprimento e quase 2 cm de espessura.
Um estudo publicado em agosto na revista Cerebral Cortex por pesquisadores brasileiros, porém, indica que o corpo caloso não é a única via de comunicação entre o lado direito e o esquerdo do cérebro. Há outras, mais sutis, que permaneciam ocultas e foram descritas e, mais recentemente, mapeadas por eles. São as comissuras talâmicas, feixes mais delgados de substância branca que atravessam uma estrutura cerebral situada logo abaixo do corpo caloso: o tálamo. Com cerca de 4 cm de comprimento e forma ovalada, o tálamo é uma estrutura que existe em duplicata (há um em cada hemisfério) e processa e retransmite in-
formações sensoriais para áreas que controlam o movimento, além de regular a consciência, o sono, a atenção e a memória.
Os biomédicos Pamela de Meneses Iack e Diego Szczupak começaram a desvendar as comissuras talâmicas no período em que passaram no laboratório do neurocientista Roberto Lent, na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e as descreveram em um artigo publicado em 2021 na revista Cerebral Cortex . Mais recentemente, durante o doutorado feito sob a orientação de Lent, Iack iniciou o mapeamento das regiões cerebrais conectadas pelas comissuras. Ela injetou em diferentes áreas do córtex (a camada mais externa do cérebro) de roedores um vírus geneticamente modificado para produzir uma proteína fluorescente e acompanhou o trajeto percorrido pelo agente infeccioso. Em paralelo, confrontou com os dados públicos de um mapa tridimensional do Allen Mouse Brain Connectivity Atlas, uma ferramenta virtual que detalha as conexões do cérebro de camundongos criada pelo Instituto Allen, fundado em 2003 por Paul Allen, um dos criadores da empresa Microsoft. Assim, conseguiu rastrear o caminho das fibras que passavam pelas comissuras talâmicas e identificar as áreas cerebrais conectadas por elas. O trabalho, no entanto, precisou ser concluído por seus colegas. É que Iack morreu precocemente e de forma inesperada em 2024, aos 29 anos.
Como forma de homenagear Iack, que havia realizado os experimentos e analisado os dados, Szczupak mobilizou o restante da equipe, que finalizou o projeto e buscou uma revista que aceitasse a biomé-
Imagem do cérebro de camundongo mostra dois ramos das comissuras (em verde) se conectando a diferentes núcleos do tálamo (no centro)
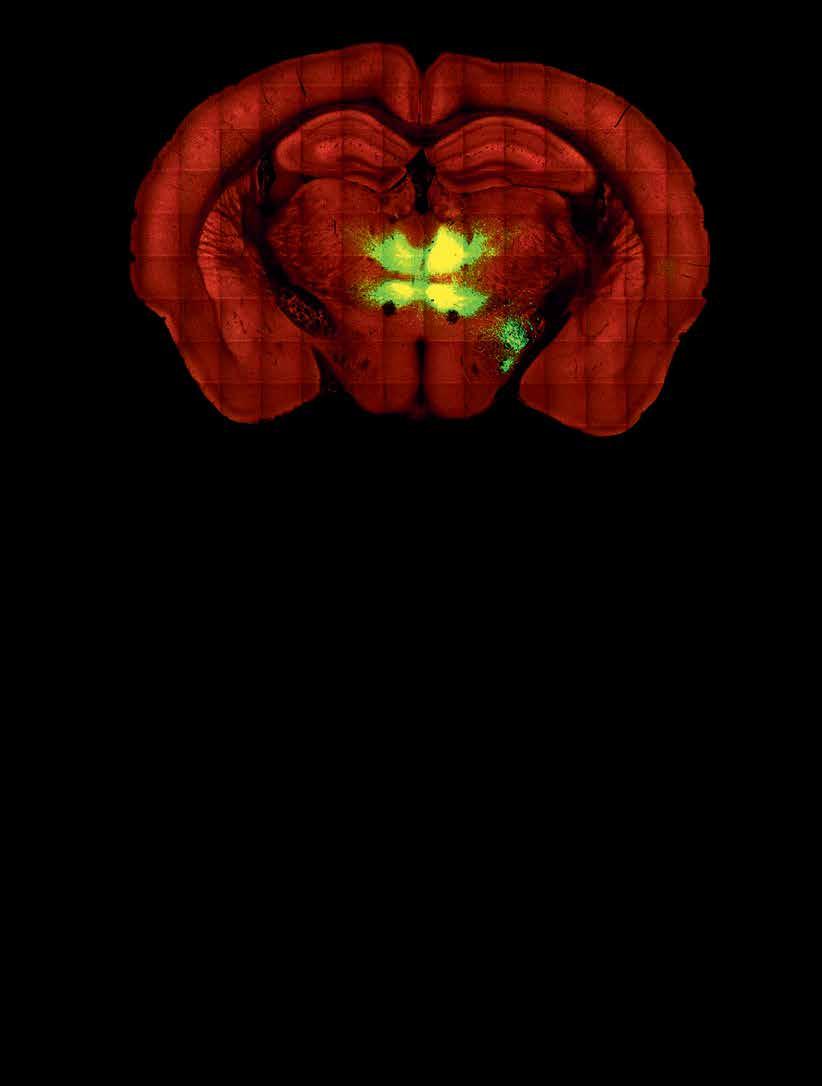
dica como autora póstuma. As comissuras mapeadas pelo grupo são feixes de axônios que partem da camada mais externa do cérebro (o córtex cerebral) de um dos hemisférios e se ligam ao tálamo do hemisfério contrário, mostraram os pesquisadores no artigo publicado em agosto deste ano.
Ae xistência de conexões recíprocas entre o córtex e o tálamo do mesmo hemisfério já era conhecida. Elas permitem receber informações dos sentidos e de regiões mais periféricas do sistema nervoso, organizá-las e retransmiti-las para as camadas mais externas do cérebro, como o córtex. Mas as conexões entre o córtex e o tálamo do hemisfério contrário, identificadas por Iack e seus colegas, surpreenderam. “Esses circuitos são de menor densidade e, portanto, não são tão visíveis”, conta Lent. “Talvez por essa razão não apareciam na literatura especializada anteriormente.”
Para Szczupak, hoje professor na Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, a existência dessas comissuras adiciona um novo nível de complexidade às funções do tálamo. “O tálamo é quase como um maestro regendo uma orquestra”, explica. “O fato de esses feixes de fibras cruzarem os hemisférios indica que ele [o tálamo] não seria responsável somente por fazer essa regência em um único hemisfério, mas nos dois.”
O grupo também observou que as comissuras não estão distribuídas igualmente por todo o sistema nervoso central. A maioria delas está em uma
posição mais anterior do cérebro, próxima ao córtex pré-frontal, área associada aos processos de tomada de decisão. Essa função exige o processamento de informações recebidas de diferentes regiões do sistema nervoso, o que pode ajudar a entender por que há maior conectividade ali. “O tálamo integra os sinais e os envia para o córtex pré-frontal já integrados, informando sensorialmente o que está acontecendo ao redor do indivíduo e isso contribui para tomar uma decisão”, explica o neuroanatomista Newton Canteras, do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (USP).
Apesar de o trabalho de Iack e colaboradores ter sido realizado em camundongos, as mesmas estruturas já foram observadas em primatas e possivelmente existem no ser humano. Identificá-las em pessoas, porém, é uma tarefa mais difícil. “As tecnologias de imagem disponíveis hoje para analisar o cérebro humano ainda são rústicas e não permitem chegar ao grau de precisão necessário para identificar fibras nervosas individuais, como os modelos animais permitem”, explica Lent.
Para o grupo da UFRJ, a publicação do mapeamento das fibras que integram as comissuras talâmicas significou mais do que uma conquista acadêmica. “Saber que o legado da Pamela foi lido por outras pessoas dá um alento”, afirma Szczupak. “É um lado afetivo da ciência que não aparece muitas vezes na frieza das publicações científicas”, conclui Lent. l
Os artigos científicos consultados para esta reportagem estão listados na versão on-line.
Representação artística da floresta de Cerro Chato; a árvore à esquerda, uma licófita, chegava a 30 m de altura

Oásis na região do atual Rio Grande do Sul protegeu plantas e animais do clima árido, há 260 milhões de anos
GILBERTO STAM
Uma floresta em solo pantanoso, com árvores, samambaias e lagos onde viviam peixes e moluscos aquáticos primitivos, floresceu no atual sudoeste do Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai, de 273 milhões a 260 milhões de anos atrás, em meados do período geológico conhecido como Permiano. Foram tempos de intensas mudanças ambientais e climáticas.
Cravado em uma região que se tornava cada vez mais árida, o oásis protegeu as plantas e os poucos grupos de animais aquáticos que já existiam antes das extinções que eliminaram cerca de 90% das espécies de seres vivos no final do Permiano. A extinção colossal foi o resultado de mudanças do clima e da intensa atividade vulcânica no período.
“Foi uma grande surpresa encontrar tamanha diversidade de plantas fósseis em um período em que essas áreas con-
tinentais se tornavam cada vez mais áridas”, comemora a paleobotânica Joseane Salau Ferraz, da Universidade Federal do Pampa (Unipampa), primeira autora do artigo publicado em junho na revista Journal of South American Earth Sciences . Os pesquisadores coletaram 200 fósseis e, nos 103 mais preservados, identificaram plantas que cresciam em ambiente úmido. Os vestígios de escamas de peixes e moluscos confirmaram que na região havia lagos cercados por uma vegetação diversa e abundante.
Na mesma época, duas espécies de moluscos (Pinzonella neotropica e Jacquesia brasiliensis), que viviam em um grande lago na região que hoje corresponde ao sul de Goiás, sobreviveram a uma das extinções do Permiano. É uma indicação de que grandes lagos, de escala continental, isolados no interior do continente, podem ter protegido alguns seres vivos da extinção em massa, segundo outro estudo, publicado em dezembro de 2024 na revista Journal of South American Earth
Sciences. No ambiente marinho, no entanto, não ocorreu o mesmo: a combinação do aumento de temperatura, de cinzas das erupções vulcânicas e da queda no nível do mar causou a extinção de grande parte das espécies de moluscos bivalves.
Ferraz e seus colegas começaram a escavar em 2020 no sítio paleontológico conhecido como Cerro Chato, no município de Dom Pedrito, no sudoeste do Rio Grande do Sul. “No início das escavações, dezenas de fósseis afloravam das rochas, com um estado de preservação e uma diversidade que nos surpreenderam”, relata a paleobotânica Joseline Manfroi, do Centro de Investigação em Paleontologia e História Natural do Atacama e colaboradora da Universidade de São Paulo (USP), coautora do artigo.
As folhas mantinham as linhas, conhecidas como nervuras, e os caules, vistos ao microscópio, expunham os vasos condutores de seiva. “Uma das plantas estava quase completa, com as folhas presas ao caule e raízes ligadas ao tronco”, conta Ferraz. A pesquisa teve apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
A floresta de dimensões incertas era muito diversificada, apesar de 73% dos fósseis de plantas corresponderem ao grupo das licófitas, com espécies como Lycopodiopsis derbyi, de 30 metros (m)

de altura, caule fino e copa arredondada. Por ali cresciam grandes coníferas e Glossopteris , espécie de árvore que desapareceu há 252 milhões de anos. Havia também plantas de 15 cm com caule fino, as esfenófitas, parentes distantes da atual cavalinha (Equisetum spp.), que hoje chega a 2 m. Nessa época, nos atuais estados de São Paulo e Tocantins, cresciam samambaias arbóreas, com até 15 m de altura, parecidas com a atual samambaia-açu da Mata Atlântica (ver Pesquisa FAPESP no 210).
O achado questiona conceitos estabelecidos, na visão do paleobiólogo da USP Paulo Eduardo de Oliveira: “De modo geral, os paleontólogos defendem que, ao longo da história da Terra, praticamente não existiam florestas em períodos muito secos”. Dinossauros que viveram há cerca de 90 milhões de anos no atual município de General Salgado, noroeste do estado de São Paulo, devem ter se alimentado em bosques. “A floresta gaúcha é uma demonstração contundente de que existiu uma região úmida com variedade de seres vivos em uma época árida”, diz ele.
PRESSÃO DO CLIMA
“O oásis representa um remanescente das grandes florestas que cobriam o sul do continente há 299 milhões de anos e se desenvolveram enquanto as geleiras retrocediam, após um período glacial, quando quase todo o planeta estava coberto por gelo”, conta Manfroi.

Vestígios de uma dessas florestas fósseis também foram encontrados na região central do atual estado do Paraná. Nessa região, um grupo das universidades federais do Paraná (UFPR) e do Rio Grande do Sul (UFRGS) coletou dezenas de fragmentos de outra espécie de licófita, com estimados 10 m de altura, nas posições em que provavelmente viviam. “Conforme aumentava a aridez, as áreas de vegetação diminuíam, restando apenas trechos isolados de florestas”, diz ela.
Uma das causas da falta de chuvas nas futuras terras gaúchas foi a formação do supercontinente Pangeia, que se completou há cerca de 252 milhões de anos, unindo as massas continentais do planeta. “À medida que Pangeia se formava, as áreas mais distantes do mar tornaram-se mais secas, provocando o aumento da aridez em muitas regiões do globo”, diz o paleontólogo da Unipampa Felipe Pinheiro, coautor do artigo.
Em outro estudo, também com apoio do CNPq e da Capes, a bióloga Júlia Siqueira Carniere, da Universidade do Vale do Taquari (Univates), explorou o afloramento Quitéria, no município de Pântano Grande, no Rio Grande do Sul, a 300 km a nordeste de Dom Pedrito, e encontrou vestígios de árvores, arbustos e ervas ainda mais antigos, com 296 milhões de anos.
“As camadas inferiores do afloramento eram consideradas ambientes pantanosos e faziam parte de uma grande floresta, com um clima mais ameno e úmido”, afirma. Carniere identificou um gênero novo de licófita herbácea, Franscinella riograndensis, detalhada em artigo publicado em junho na revista Review of Palaeobotany and Palynology.
A abundância de fósseis de Glossopteris no local reforça a ideia de que a América do Sul e a África já estavam unidas nessa época, porque foram encontrados nos dois continentes. Uma floresta com mais espécies que a do Sul do Brasil cresceu nessa mesma época no sul da atual África do Sul, antes de seguir um destino idêntico e praticamente desaparecer. l
Os artigos científicos consultados para esta reportagem estão listados na versão on-line.
ENGENHARIA AGRONÔMICA

Uso de cereais amplia a gama de opções; agave, planta com que se faz tequila, tem potencial para ser um importante insumo do biocombustível
DOMINGOS ZAPAROLLI


Sorgo (ao lado), trigo (abaixo) e milho (mais à esq.): diversificar fontes pode elevar a oferta de etanol

Há 50 anos, desde que o Programa Nacional do Álcool (Proálcool) foi criado, em 1975, a cana-de-açúcar é o insumo predominante do etanol brasileiro. A novidade é que outras matérias-primas começam a ganhar relevância na geração do biocombustível. Em 2024, o milho respondeu por cerca de um quinto da produção de etanol no país. As primeiras usinas comerciais que utilizam sorgo e trigo devem entrar em operação ainda este ano. O agave, por sua vez, apresenta potencial para se tornar um insumo de etanol nacional. A planta, um gênero de suculentas típicas de regiões semiáridas, é utilizada no México para fazer tequila e, na Bahia, fibra de sisal (ver box na página 69).
A produção brasileira de etanol em 2024, a maior já registrada, foi de 36,8 bilhões de litros (L), segundo dados da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica). De acordo com o Plano Decenal de Expansão de Energia 2035, elaborado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), vinculada ao Ministério de Minas e Energia, a demanda total do biocombustível deverá crescer para 48,2 bilhões de L ao fim de 10 anos.
O estudo da EPE também avalia que haverá no próximo decênio uma expansão significativa da oferta de etanol de milho. Hoje a principal alternativa à cana-de-açúcar, passará dos 7,4 bilhões de L verificados em 2024 para em torno de 16,3 bilhões de L em 2035, correspondendo a 30% da produção nacional. A União Nacional do Etanol de Milho (Unem) relaciona 24 usinas de etanol em operação no país que usam o cereal e 38 projetos de construção de novos estabelecimentos, sendo que 19 deles já foram autorizados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) (ver infográfico na página 68). Sinop, em Mato Grosso, abriga a maior usina do mundo dedicada à produção de etanol de milho. Operada pela Inpasa, tem capacidade para processar 4,6 milhões de toneladas (t) de milho e produzir 2,1 bilhões de L de etanol por ano.
Uma das grandes vantagens do milho como insumo do etanol é a possibilidade de armazenamento do cereal, que pode ser processado em qualquer momento do ano. A cana-de-açúcar precisa ser beneficiada em até 48 horas após ser colhida, antes que o açúcar seja degradado. Além disso, devido ao seu processo de crescimento e maturação, a cana não está pronta para a colheita em todos os meses do ano. Essa característica faz
com que as usinas de cana parem no período de entressafra, entre novembro e março.
O milho utilizado para a produção de etanol no último ano, de acordo com a EPE, representou apenas 15% da safra colhida em 2023/2024. No Brasil, mais de 75% da produção de milho ocorre na chamada “safrinha”, durante a entressafra da soja, que ocorre no outono e inverno. Outro cereal de cultivo na safrinha é o sorgo, usado na alimentação animal.
Além de etanol, as usinas que processam milho e outros cereais geram um subproduto destinado principalmente à ração animal, conhecido pela sigla DDGS, de grãos secos de destilaria com solúveis. Segundo o agrônomo Flávio Dessaune Tardin, da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) Milho e Sorgo, por apresentar um custo entre 15% e 25% menor do que o milho para um rendimento em etanol e DDGS quase equivalente, o sorgo tem sido adotado desde 2024 por usinas de etanol de milho para compor o mix de insumos. “Empresários já falam em processar 50% milho e 50% sorgo”, afirma o agrônomo.
Em 2025 foram anunciadas as primeiras usinas de etanol planejadas para trabalhar especificamente com sorgo, no Maranhão, em Mato Grosso do Sul e Alagoas. “Em regiões e microrregiões mais secas, o sorgo, que tem menor necessidade hídrica, apresenta desempenho melhor do que o do milho”, compara Tardin. A área produtora de soja do Matopiba, região que se estende por territórios do Maranhão, do Tocantins, do Piauí e da Bahia, e municípios do leste de Mato Grosso, conhecidos como vale do Araguaia, apresentam-se como os mais propícios para investimentos em usinas de etanol a partir do sorgo, conforme pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo.
APOSTA NO TRIGO
Para a bióloga Glaucia Mendes Souza, do Instituto de Química da Universidade de São Paulo (IQ-USP) e coordenadora da Força Tarefa para a Descarbonização do Transporte com Biocombustíveis da Agência Internacional de Energia (IEA), diversificar as fontes de matérias-primas proporciona maior garantia à oferta de etanol. “Não é bom depender de uma única biomassa, que pode ter sua oferta e preço afetados de acordo com condições climáticas, doenças na lavoura e alterações na cotação internacional das commodities agrícolas”, argumenta.
No Sul do país, o trigo começa a ser utilizado para a produção de etanol. A primeira usina foi

construída em Santiago, no Rio Grande do Sul, e terá capacidade para produzir mais de 13 milhões de L por ano, assim que sua licença operacional for aprovada, o que é aguardado para ocorrer ainda este ano. O estado quase não produz cana-de-açúcar, e o etanol, adquirido principalmente do Sudeste, não é competitivo diante da gasolina devido ao custo logístico. Na usina de Santiago será utilizado um trigo de baixa qualidade não aproveitado para a alimentação humana.
“É um trigo que, por condições climáticas, não atinge o padrão de qualidade exigido. Com isso, perde valor e acaba destinado para nutrição animal”, detalha Tiago Lacerda, diretor da CB Bionergia, companhia que investiu R$ 110 milhões na instalação da usina. Além de trigo, a planta poderá processar etanol com o uso de arroz, milho, sorgo, triticale, cevada e centeio.
Uma segunda usina de etanol de trigo e outros cereais, com capacidade para 210 milhões de L anuais a partir do fim de 2026, também
Confira a localização das usinas desse combustível e a capacidade de processamento por estado
Unidade para a geração de etanol de trigo da CB Bioenergia, em Santiago (RS)
está sendo erguida no Rio Grande do Sul, pela companhia Be8, com investimentos anunciados de R$ 1,2 bilhão.
Ouso de milho e sorgo é predominante nos Estados Unidos, o maior produtor mundial do biocombustível, enquanto na Europa o trigo é mais usual. As usinas brasileiras que produzem etanol de cereais recorrem principalmente a fornecedores de tecnologia estrangeiros. Nos cereais, o principal componente energético é o amido. O processo de produção do etanol demanda a moagem do grão e sua mistura com água aquecida, formando um mosto de alta viscosidade.
Nesse mosto é acrescentada uma enzima, a alfa-amilase (ou a-amilase). Como detalha a bióloga Amanda de Souza, líder de aplicação da área de processamento de grãos da IFF América Latina,
País tem programa voltado a desenvolver rota de produção do biocombustível a partir dessa planta
O agave poderá tornar-se dentro de alguns anos uma alternativa para a produção de etanol no país. Uma iniciativa nesse sentido é o programa Brazil Agave Development (Brave). Seu objetivo é estabelecer soluções para elevar a produtividade da planta e criar rotas de processamento visando à geração de diferentes tipos de biocombustíveis.
Coordenado pelo engenheiro-agrônomo Gonçalo Pereira e pelo físico Marcelo Falsarella Carazzolle, ambos do Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas (IB-Unicamp), o Brave tem origem em um projeto financiado pela FAPESP e investimento de R$ 110 milhões da petroleira anglo-holandesa Shell e da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii). O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e o Centro Integrado de Manufatura e Tecnologia (Cimatec) também participam da iniciativa.
Não há ainda produção de etanol de agave no Brasil nem em outro país. O primeiro plantio experimental teve início este ano em uma área de 1.400 hectares (ha) do Cimatec Sertão, em Ourolândia (BA). A planta
leva entre cinco e sete anos para chegar ao ápice. Nesse período, ganha 100 toneladas (t) de biomassa por ano, desempenho superior ao da cana, que gera em média 80 t por ha por ano.
Estudo feito por pesquisadores britânicos e australianos, publicado no periódico Journal of Cleaner Production, em 2020, apontou que 1 hectare (ha) de agave poderá proporcionar 7.400 litros (L) de etanol por ano, rendimento inferior ao da cana-de-açúcar (9.900 L/ha/ano) e superior ao do milho (3.800 L/ha/ano).
O processo produtivo do etanol de agave é parecido ao da cana, mas obstáculos ainda precisam ser superados. O biocombustível é gerado a partir do suco extraído das folhas e da pinha do agave, rico em inulina, um açúcar tipo frutano. Um dos problemas é que a levedura Saccharomyces cerevisiae, usada para converter os açúcares presentes no caldo de cana em etanol, não metaboliza a inulina.
Para superar esse obstáculo, a equipe da Unicamp sequenciou o genoma do fungo Aspergillus welwitschiae, que se alimenta do agave, e com isso conseguiu obter uma enzima capaz de metabolizar a inulina. O sequenciamento foi tema
uma das principais fornecedoras de tecnologia para a produção de etanol de cereais no país, a enzima quebra a estrutura molecular do amido em cadeias menores. Essa etapa é conhecida como cozimento e liquefação. Em seguida, um segundo conjunto de enzimas, denominadas glucoamilase, “picota” as cadeias menores liberando glicose, um tipo de açúcar, permitindo o processamento pelas leveduras. Essa segunda etapa é conhecida como sacarificação e fermentação simultânea. Na sequência, o processo de fabricação do biocombustível é idêntico ao da cana-de-açúcar. O líquido obtido é encaminhado para destilação, onde ocorre a separação do etanol. “Uma das tarefas da IFF é fornecer a combinação de enzimas e leveduras, dentro do nosso acervo, mais adequadas para as características do insumo que

de artigo publicado na Genomics, em 2022. Com essa enzima, desenvolveram uma cepa geneticamente modificada de S. cerevisiae
Os cientistas brasileiros também investigaram a espécie de agave, entre as mais de 200 existentes, mais adequada à produção de etanol, e buscaram desenvolver soluções voltadas à mecanização do plantio e da colheita e ao processamento do etanol.
O Brasil é o maior produtor mundial de Agave sisalana, planta que fornece a fibra de sisal. A Bahia concentra 90% da produção nacional da fibra, estimada em 93 mil t, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
vai ser processado em cada momento da safra, aumentando o rendimento do processo produtivo”, diz Souza.
Uma tendência que ganha força entre os produtores de etanol de cana-de-açúcar, avalia Tardin, da Embrapa, é o investimento em estabelecimentos flex. Essas unidades são usinas tradicionais de cana que incorporam as etapas de processamento enzimático de cereais. Com isso, sua estrutura produtiva é aproveitada durante todo o ano, pois passam a ser utilizadas durante o período da safra da cana e na entressafra podem dedicar-se à fabricação do etanol de milho, trigo ou sorgo. l
Os projetos e os artigos científicos consultados para esta reportagem estão listados na versão on-line.
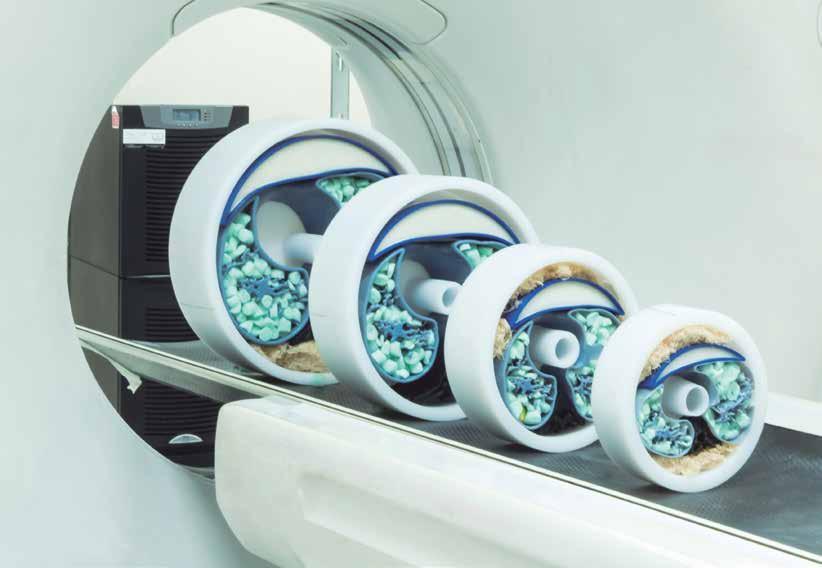
Objeto desenvolvido por pesquisadores brasileiros ajuda a avaliar o desempenho de tomógrafos computadorizados
FRANCES JONES
Para avaliar a qualidade das imagens geradas por aparelhos de tomografia computadorizada (TC) e definir protocolos na detecção de nódulos, radiologistas, biomédicos e físicos médicos recorrem a dispositivos que funcionam como um boneco de testes. No lugar de realizar estudos em humanos, uma vez que a radiação excessiva pode causar danos à saúde, eles colocam nas máquinas objetos simuladores que permitem calcular a melhor dose para fazer um exame em determinada parte do corpo. Esses objetos são chamados phantoms
Na Universidade de São Paulo (USP), um projeto liderado pelo físico Paulo Roberto Costa, do Departamento de Física Nuclear do Instituto de Física (IF), resultou em um novo phantom para TC de pulmão, exame para a detecção precoce de um dos cânceres mais letais. Foram mais de 1,8 milhão de mortes decorren-
Na versão antropomórfica do phantom, módulos encaixáveis reproduzem as propriedades dos tecidos pulmonares
tes de câncer de pulmão no mundo em 2022. No Brasil, a doença vitimou 28,6 mil pessoas em 2020.
“Nosso phantom combina funcionalidades tradicionais e bem estabelecidas, adotadas para a otimização de equipamentos de TC, com a possibilidade de produção de imagens com aparência semelhante à região pulmonar humana”, afirma Costa. O dispositivo é híbrido: avalia e quantifica, ao mesmo tempo, parâmetros físicos de qualidade da imagem e características antropomórficas do órgão, como os tipos de tecidos presentes no pulmão. O desenvolvimento, iniciado há cinco anos, teve apoio da FAPESP. O artigo sobre o trabalho foi publicado na revista Medical Physics em agosto.
O phantom criado no IF-USP é baseado em parte em um modelo criado na Universidade Duke, nos Estados Unidos, que depois foi adaptado e hoje é comercializado sob o nome Mercury pela empresa Sun Nuclear – o aparelho não é específico de uma parte do corpo hu-
mano. Esse phantom fornece informações quantitativas, como resolução, contraste e ruído da imagem, para testar um tomógrafo, enquanto o dos pesquisadores brasileiros usa técnicas de impressão 3D e resinas para dar um caráter antropomorfo ao dispositivo e gerar imagens tomográficas realistas como as obtidas com pacientes no dia a dia dos radiologistas. Os modelos 3D foram impressos no Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, em Campinas (SP). “Phantoms comerciais, como o Mercury, têm a vantagem de testar o tomógrafo de maneira abrangente, mas não permitem avaliar com mais especificidade as propriedades singulares de uma parte do corpo”, explica Costa. Por isso, o grupo paulista decidiu focar nas especificidades do pulmão. De acordo com o físico, a qualidade das imagens radiológicas é proporcional às doses de radiação utilizadas – ou seja, altas doses permitem a obtenção de imagens de alta qualidade, enquanto as baixas podem comprometer o resultado clínico. “O equilíbrio entre segurança do paciente e imagem de boa qualidade é difícil de se obter.”
COLABORAÇÃO INTERNACIONAL
O trabalho teve a colaboração de radiologistas especializados em imagens de pulmão, entre eles o diretor do corpo clínico do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (FM-USP), Marcio Sawamura. “Apoiei a parte médica do projeto. Separamos imagens de pacientes reais para usar como modelo. Selecionamos imagens de nódulos pulmonares e tentamos
construir modelos que os reproduzissem. Depois, revisamos as imagens feitas com os diversos materiais usados na simulação dos nódulos para ver quais ficavam mais parecidas com os de verdade”, conta Sawamura.
Parte da validação do dispositivo foi feita no Centro Médico da Universidade Radboud, em Nijmegen, nos Países Baixos, entre 2023 e 2024. Neste período, o phantom foi submetido a medições em dois equipamentos de TC de última geração. “Passei um ano nos Países Baixos com uma bolsa de pesquisa no exterior da FAPESP. Nesse período, houve uma intensa troca com o radiologista Bram Gertus para chegarmos a um modelo confiável do phantom”, afirma o físico.
Costa levou na bagagem o phantom , que pesa 60 quilos. “Ele tem uma parte sólida pesada. Quando colocado em pé, parece um bolo de noiva”, comenta. Nessa estrutura principal, feita de polietileno de ultra alto peso molecular, há módulos encaixáveis com cinco diâmetros diferentes, de 12 a 37 centímetros, representando pacientes de diferentes tamanhos. Ela é usada nas duas configurações. Na tradicional, pequenas placas no interior da estrutura captam os dados numéricos que traduzem as principais características do tomógrafo. Como num jogo de encaixe, para a versão antropomórfica, é colocado um outro grupo de inserts , que imita as propriedades dos tecidos da região pulmonar e de diferentes tipos de nódulos.
“Considero um trabalho de excelência e visionário. É muito difícil a construção de um fantoma antropomórfico para si-
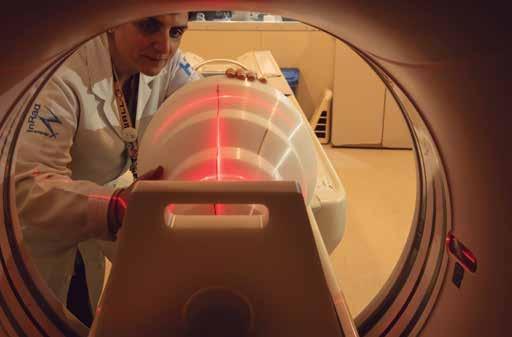
mular o pulmão, devido às minúcias de suas estruturas anatômicas”, comenta a física Diana Rodrigues de Pina, do Departamento de Infectologia, Dermatologia, Diagnóstico por Imagem e Radioterapia da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Universidade Estadual Paulista (Unesp), que não participou do desenvolvimento.
Oproduto em desenvolvimento na USP, diz Pina, cobrirá uma lacuna no país, já que, embora existam phantoms de pulmão para TC disponíveis internacionalmente, eles são de difícil acesso e custo elevado, em torno de R$ 130 mil. Um ponto forte do desenvolvimento nacional, para a física da Unesp, é o fato de ser um dispositivo híbrido. “Ele auxiliará o médico radiologista na avaliação da imagem e permitirá a implementação de protocolos por empresas nacionais que prestam serviços de controle de qualidade em tomógrafos”, diz.
Simulação de um exame de tomografia computadorizada com o phantom criado na USP
Costa negocia com uma empresa para estabelecer uma parceria visando ao aprimoramento do protótipo. “O atual é uma prova de conceito. Dentro de algum tempo, queremos ter uma versão comercial”, diz o pesquisador. “Agora que demonstramos sua aplicabilidade e o potencial de uso para a otimização de aparelhos de TC, estamos trabalhando em outras ferramentas para aprimorar o estudo de casos para diagnóstico de câncer”, destaca o físico. Uma das inovações previstas será o desenvolvimento de outros modelos antropomórficos para mimetizar pneumonias, infecções e outros achados revelados por imagens tomográficas. O uso de ferramentas de IA para quantificar volumes de nódulos está sendo considerado.
Os bons resultados obtidos com o phantom de pulmão estimularam Costa a se dedicar a dois novos projetos. “Estamos aprimorando um modelo de abdômen, composto por peças impressas em 3D representativas do fígado, do baço e dos rins, para dar início aos testes de validação”, declara. “O outro, um dispositivo para simular o crânio, está em estágio avançado.” l
Os projetos e o artigo científico consultados para esta reportagem estão listados na versão on-line.

Evitar a queda de árvores demanda podas adequadas e cuidados com o sistema radicular
Mapas tridimensionais de raízes e plataformas que usam inteligência artificial aprimoram a gestão e o manejo das árvores dos centros urbanos
FRANCES JONES
Na corrida contra o tempo para adaptar as cidades brasileiras à emergência climática, surgem novas ferramentas para o manejo de árvores nas cidades. Lançada pela startup Propark, de Piracicaba, no interior de São Paulo, a plataforma Arbolink utiliza dados fornecidos por satélites e captados por veículos com visão computacional para gerir a arborização urbana. Em outra iniciativa, a empresa Kerno Geo Soluções, com sede na capital paulista, oferece um serviço que faz um mapeamento tridimensional (3D) das raízes de árvores sem precisar escavar o terreno. Preservar a saúde do sistema radicular é importante para assegurar a integridade da árvore, mostrou um artigo publicado em 2024 na revista Urban Forestry & Urban Greening por um grupo da Universidade de São Paulo (USP), da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), entre outros. Ao analisar dados de 456 árvores que caíram na região central de São Paulo entre 2016 e 2018, os pesquisadores perceberam que em 33% dos casos o problema estava nas raízes. Em outros 46%, a falha estava nos galhos e, em 21% das vezes, nos próprios troncos.
“Em uma cidade como São Paulo, as concessionárias de água, gás, internet estão sempre instalando tubulações no subsolo. O controle por parte do poder público é muito falho. São poucos os locais com fios aterrados. Nesses lugares, o controle é maior, mas no restante da cidade não.
A árvore fica em segundo plano”, comenta o geofísico Vinicius Neris Santos, sócio da Kerno Geo Soluções. “Quando uma raiz é cortada, a consequência pode surgir um mês ou um ano depois, na próxima ventania ou chuva mais forte. Por isso, é importante saber onde e como estão as raízes.”
Para mapear os sistemas radiculares das árvores, a tecnologia criada pela empresa, batizada de Kerno Andas, aplica um método geofísico já usado por outras companhias e instituições para cadastramento de tubulações de água e esgoto, cabos elétricos e canos de gás enterrados no solo. Em
cerca de 45 minutos, a ferramenta faz o mapeamento subterrâneo de uma área de 5 metros (m) por 5 m ao redor da árvore, independentemente de o terreno ser um gramado, de cimento, asfalto ou terra. Emitindo ondas eletromagnéticas, o georradar revela a distribuição espacial, a profundidade e o diâmetro das raízes. A detecção alcança cerca de 2 m de profundidade. A inovação foi desenvolvida com apoio do programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (Pipe) da FAPESP. Além da disposição das raízes no espaço, a empresa pretende incluir no serviço a indicação da saúde das raízes. O desenvolvimento é fruto de um estágio de pós-doutorado de Santos na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq) da USP. “Estamos trabalhando com o espectro do sinal eletromagnético, que é capaz de fornecer informações mais detalhadas das raízes a partir das diferentes frequências desse espectro”, declara o pesquisador. Entre os clientes da empresa, estão a prefeitura de Belo Horizonte (MG) e companhias de manejo arbóreo.
SOFTWARES E SAÚDE DA FLORESTA
Empresas e institutos de pesquisa também têm desenvolvido softwares para digitalizar a gestão da arborização urbana. A ideia é de que essas ferramentas facilitem a formação e a atualização de inventários e o controle de podas e plantios. Um exemplo recente é o sistema Arbolink, da empresa Propark. Usado por prefeituras em cinco estados – São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul –, o sistema gerencia demandas de licenciamento ambiental, integrando dados gerados por satélites e por veículos com visão computacional, além de informações coletadas por técnicos em campo.
“A plataforma tem um banco de dados robusto sobre espécies arbóreas, incluindo características biomecânicas dos exemplares. Com isso, permite uma visão em tempo real da floresta urbana, facilitando a interoperabilidade entre secretarias municipais e concessionárias de serviços públicos”, destaca o engenheiro-agrônomo Marcelo Machado Leão, diretor da empresa.

Técnicos fazem mapa
3D das raízes sem escavar o terreno usando a tecnologia
Kerno Andas
O Arbolink também foi projetado para possibilitar a interação colaborativa da população, que pode solicitar serviços de poda e relatar problemas relacionados às árvores. A plataforma usa IA para avaliar e gerenciar o risco de queda das árvores e garantir o plantio adequado, evitando conflitos futuros com a infraestrutura urbana. “O sistema é adaptável para atender às legislações municipais locais e está recebendo novos módulos e funcionalidades inovativas”, conta Leão.
Plataforma digital disponibiliza mapas interativos com dados ambientais e sociais dos municípios brasileiros
Gestores públicos, pesquisadores e a população em geral contam, desde 2024, com a plataforma on-line UrbVerde para visualizar dados ambientais dos 5.570 municípios do país, com mapas interativos das áreas verdes, números comparativos entre as cidades e integração de dados socioeconômicos. O projeto, apoiado pelo Programa de Pesquisa em Políticas Públicas da FAPESP e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), reúne cerca de 50 pesquisadores de 11 instituições. A prefeitura de Diadema (SP) e um consórcio dos municípios do ABC paulista são parceiros da iniciativa. Informações como índices de cobertura vegetal, suscetibilidade a
Uma das novidades em implantação é a possiblidade de fiscalização e de realização de cálculos de serviços ecossistêmicos, como o de balanço de carbono. Outra é a gestão preventiva de riscos por meio de algoritmos de predição climática, importante para preparar as cidades para eventos climáticos extremos, como vendavais e chuvas intensas, que têm se tornado mais frequentes. A inovação teve apoio do programa Pipe da FAPESP.
Outra ferramenta, criada no IPT, órgão vinculado ao governo do estado de São Paulo, é um software para gestão da governança urbana, chamado Arbio, indicado para a realização de inventários arbóreos municipais. A solução já foi utilizada em São José dos Campos e São Caetano do Sul, ambas em São Paulo, e está sendo negociada para ser assumida pela Prodesp, a empresa de tecnologia do governo estadual.
“A ideia é que o Arbio seja distribuído pelos 645 municípios paulistas. Já há conversações”, conta o biólogo Sérgio Brazolin, chefe do Laboratório de Árvores, Madeiras e Móveis do IPT. “O seu diferencial é que há dentro dele um modelo de cálculo estrutural. A ferramenta faz operações matemáticas para mostrar a probabilidade de queda ou de ruptura da árvore. Tudo a partir dos dados das
ilhas de calor e populações atendidas por parques e praças estão reunidas a partir de dados de satélites e fontes diversas, como o Censo Demográfico do IBGE e o OpenStreetMap, projeto colaborativo com dados abertos e detalhados de mapas do mundo. “Esse sistema de informação geográfica on-line visa apoiar o planejamento urbano, a formulação de políticas públicas e a adaptação climática das cidades”, diz Guilherme Bueno de Freitas, vice-coordenador da UrbVerde.
Segundo Freitas, apesar de recém-lançado, o sistema passa por uma atualização. “Usamos Diadema como projeto-piloto para desenvolver metodologias e indicadores, que
vão contribuir para um plano de ação climática”, conta. Entre os itens a serem desenvolvidos que o grupo pretende incluir nos mapas estão os pontos de maior probabilidade de sofrer inundações, os de risco a arboviroses e os de vulnerabilidade alimentar.
“Queremos pegar o maior número de informações abertas e replicáveis, para poder dar visibilidade à plataforma. Temos a pretensão de acessar as cidades pequenas de todo o país, que são as que têm menos condições de ter algum tipo de análise socioambiental”, diz Freitas. A plataforma está disponível gratuitamente em www.urbverde.com.br.

plantas, como tamanho, localização, data da última poda. Assim como o Arbolink, é uma ferramenta que ajuda o técnico a tomar decisões de manejo.”
O próximo passo, anuncia o biólogo, é incorporar inteligência artificial a uma nova versão do Arbio. A tendência nessa área é buscar a automatização para categorizar as árvores de uma localidade em relação à urgência que apresentam em relação à queda e à poda. “As pesquisas caminham para o uso de tecnologias de captura de imagem, como Lidar (detecção de luz e medida de distância), e ferramentas de geoprocessamento, para localizar e medir a árvore. Com dados históricos de quedas e sua relação com ventos e chuva, poderemos usar ferramentas de inteligência artificial para criar algoritmos mais precisos”, destaca Brazolin.
Na USP, um grupo liderado pelo biólogo Marcos Buckeridge, do Instituto de Biociências, e o engenheiro mecânico Emílio Carlos Nelli Silva, da Escola Politécnica (Poli), recorreu à técnica de otimização topológica na orientação de possíveis podas e repodas. Esse método é usado em projetos de engenharia para encontrar um design que maximize o desempenho de estruturas diversas. As indústrias aeroespacial e automotiva, entre outras, empregam a metodologia. O serviço é oferecido pela startup Treetronics, criada em abril deste ano.
Para elaborar o algoritmo da poda, os pesquisadores voltaram-se para a geometria e o comportamento estrutural da árvore. “Aplicamos a metodologia de simulação computacional usada em estruturas de engenharia em geral”, diz Silva. O desenvolvimento natural de uma árvore,
explicam os pesquisadores, otimiza a sua estrutura – ou seja, cria as condições mais favoráveis em termos de distribuição de troncos e galhos, favorecendo sua estabilidade e capacidade de suportar forças externas. O algoritmo pode ser usado em qualquer tipo de árvore.
“A árvore é uma estrutura por si otimizada. Mas se a poda é realizada de qualquer jeito, ela se fragiliza, perde esse balanceamento e tende a cair”, diz o engenheiro da Poli. Nas cidades, raízes e galhos enfrentam barreiras para um crescimento ideal. Solos compactados, fiação elétrica aérea, cimento, pavimentação e tubulações estão entre os principais obstáculos. Além disso, há as alterações ocorridas em seu entorno, como a derrubada ou a construção de edifícios que interferem na intensidade e direção dos ventos.
A fim de captar a complexa geometria da árvore e inseri-la em um modelo computacional, os pesquisadores da Treetronics recorreram à tecnologia Lidar. Ainda pouco acessível, a ferramenta é capaz de fazer um escaneamento tridimensional a laser (ver Pesquisa FAPESP nos 308 e 346 ) e gerar uma nuvem de cerca de 3 milhões de pontos para cada planta.
“O sensor Lidar faz uma imagem tridimensional da árvore em poucos minutos. Colocamos esses dados no computador e simulamos a planta se deformando, sob a ação do vento. Além de melhorar a poda, é possível avaliar se há uma propensão à queda”, afirma Silva. Os modelos ainda estão sendo aperfeiçoados, mas já há conversas com as prefeituras de São Paulo e outros municípios paulistas para a realização de testes e adoção da ferramenta. l
Os projetos e os artigos científicos consultados para esta reportagem estão listados na versão on-line.
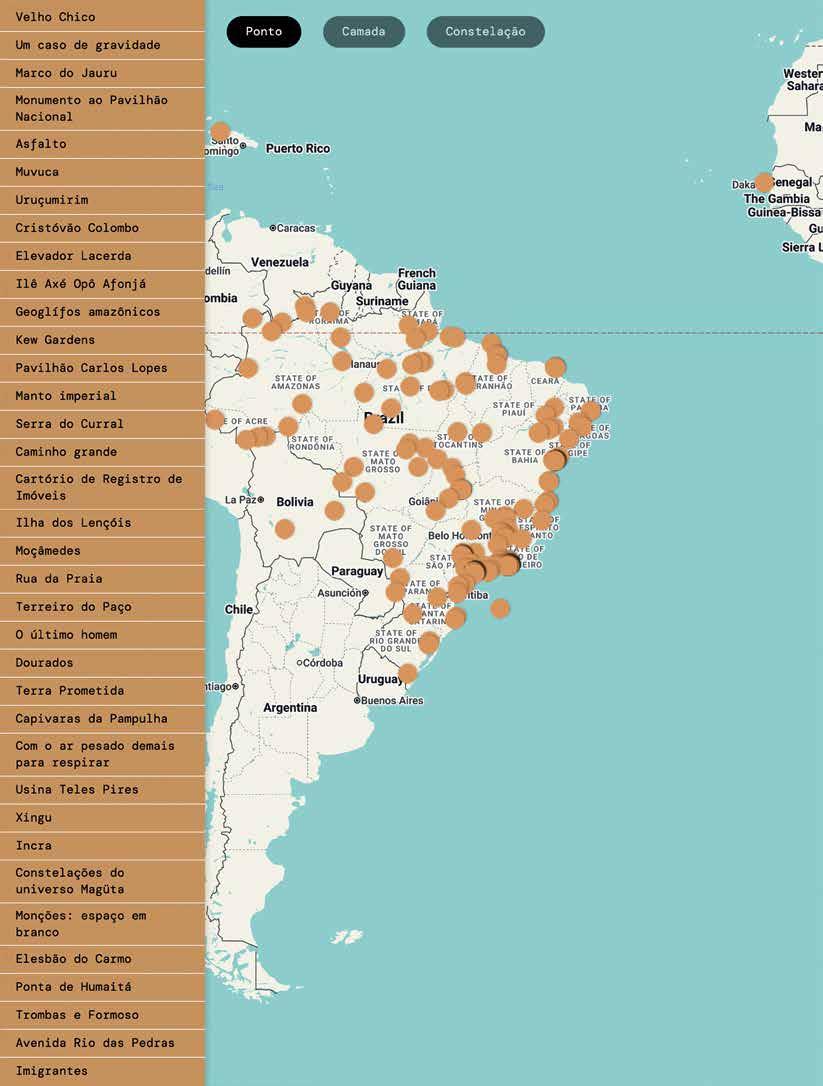
Atlas do Chão: projeto de mapeamento digital identifica lugares no mundo relacionados com processos de colonização e urbanização

Populações vulneráveis, comunidades tradicionais e artistas utilizam novas possibilidades de mapeamento para defender territórios e propor experiências simbólicas
CHRISTINA QUEIROZ
Após mais de 15 anos de espera por um processo paralisado de demarcação de terras, em 2024 o povo indígena Borari, de Alter do Chão (PA), decidiu fazer por conta própria o mapa de seu território. O documento, elaborado com apoio técnico da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), incluiu rios, trilhas e áreas sagradas que não apareciam na cartografia estatal. Já na comunidade de Poço da Draga, em Fortaleza (CE), os moradores utilizaram, em 2016, celulares e mapas digitais para registrar suas condições de saneamento e moradia. Os dados levantados contrariavam informações oficiais de censos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Parte de um movimento global conhecido como virada espacial ou cartográfica, experiências como essas são analisadas pelo arquiteto e urbanista David Sperling, professor do Instituto de Arquitetura e Urbanismo e vice-coordenador do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (USP) em São Carlos, no livro Cartografias críticas: Ensaios tecnopolíticos e geopoéticos (Rio Books). Lançada em outubro, a obra é resultado de sua tese de livre-docência, defendida em 2023. No trabalho, o pesquisador mostra como nas últimas quatro décadas os mapas, que historicamente funcionaram como instrumentos de controle territorial por governos e organizações militares (ver Pesquisa FAPESP nº 318), foram ressignificados por comunidades, artistas e ativistas. Tradicionalmente, os tipos de mapas mais comuns têm a pretensão de funcionar como espelhos da realidade: envolvem delimitações de fronteiras e divisões administrativas do território, relevo e elementos naturais na paisagem e também trazem informações sobre o clima, a população ou a economia de determinados lugares. “Já os mapas contemporâneos, enquadrados no que chamamos de campo ampliado das cartografias, diferem dos
tradicionais ao questionar sua natureza e função”, explica Sperling.
De acordo com o pesquisador, esses novos usos são marcados por duas dimensões. A primeira envolve a produção de mapas como ferramentas de disputa por territórios com o Estado e grandes corporações, misturando elementos físicos com aspectos culturais das pessoas que os habitam. Essa vertente compreende os mapas como construções sociais, priorizando a identificação de redes de relações socioespaciais, mais do que coordenadas geográficas e fronteiras políticas. Já a segunda dimensão abarca o uso simbólico e artístico de cartografias, entendendo esses documentos como plataformas para imaginar e criar novos mundos.
Para Sperling, essas transformações tiveram início nos anos 1980, quando um conjunto de geógrafos, filósofos, arquitetos, urbanistas e pesquisadores dos estudos sociais passou a questionar a ideia de que a cartografia era uma ciência objetiva. Um dos marcos dessas reflexões foi o texto Deconstructing the map, escrito pelo geógrafo britânico Brian Harley (1932-1991), em 1989. Nesse trabalho, Harley se apoia em proposições de filósofos como Michel Foucault (1926-1984) e Jacques Derrida (1930-2004), que sustentam que mapas são dispositivos de poder e devem ser analisados tanto pelos elementos que incorporam como por aquilo que deixam de lado. “Naquela década, ganhou força uma leitura que passou a enxergar a cartografia como uma construção ideológica atravessada por decisões políticas e estéticas. Assim, ela não apenas representa, como também produz realidades”, observa Sperling. Outro marco dessa virada, de acordo com o geógrafo Renato Emerson Nascimento dos Santos, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), foi a promulgação da Constituição de 1988, que passou a reconhecer as culturas, línguas, os costumes e as tradições de povos indígenas do país. Além disso, a Convenção nº 169 da Organização Inter-
Painel gráfico do grupo argentino Iconoclasistas conecta processos econômicos, sociais e culturais com ações realizadas em bairros da cidade de Buenos Aires
nacional do Trabalho (OIT), de 1990, estabeleceu direitos de autodeterminação para comunidades tradicionais de todo o mundo. No Brasil, as duas medidas abriram caminho para que esses grupos começassem a incorporar novas formas cartográficas para representar as suas territorialidades.
Na esteira desse processo, o economista Henri Acselrad, da UFRJ, recorda que a partir dos anos 1990 um movimento significativo de demarcação e titulação de terras envolvendo comunidades e povos tradicionais emergiu em diversos países da América Latina. “Esse fenômeno esteve frequentemente associado à disseminação de práticas conhecidas como mapeamentos participativos ou cartografias sociais. Essas iniciativas implicaram uma ruptura simbólica e política com o monopólio estatal sobre a produção cartográfica”, diz Acselrad, coordenador do coletivo de pesquisa Desigualdade Ambiental, Econômica e Política daquela universidade. Segundo o pesquisador, em vez de retratar o território com pretensões objetivas, como se os mapas fossem espelhos fiéis da realidade, essas novas formas de fazer cartografia propõem que os documentos devam incorporar os elementos que a própria comunidade considera relevantes.

Entre eles, por exemplo, estão espaços considerados sagrados para comunidades indígenas e regiões de rios e lagos onde as pessoas pescam. “Em um sentido filosófico, esse tipo de cartografia transcende a simples representação do espaço geográfico, transformando-se em um método de pesquisa que mapeia processos e conexões, especialmente visando à produção da subjetividade”, comenta a geógrafa Gisele Girardi, da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).
Além desses movimentos, Santos, da UFRJ, aponta avanços tecnológicos registrados a partir da década de 1980 como outros fatores que motivaram a ampliação no uso e desenvolvimento de mapas. “O cenário se transformou ainda mais entre os anos 1990 e 2000, com a disseminação de determinadas tecnologias. Sistemas de Informação Geográfica [SIG], dispositivos de posicionamento global [GPS], softwares de sensoriamento remoto e o livre acesso a bases de dados e imagens via internet ampliaram as possibilidades de atuação das comunidades”, reforça. Com isso, segundo ele, a cartografia, que até então era restrita a instituições estatais e militares, passou a integrar práticas locais de planejamento e reivindicação territorial. Nesse sentido, Santos menciona o projeto Grande Carajás, lançado pelo governo federal em 1982, que previa a construção de infraestrutura para exploração mineral na floresta amazônica, do Pará ao Maranhão. O mapa estatal elaborado para colocar a iniciativa em prática ignorava a existência de populações que viviam na região, como ribeirinhos, quilombolas e indígenas. Para questionar essas ausências, o antropólogo Alfredo Wagner Berno de Almeida, da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), criou em 2003, em parceria com outras instituições do país, o projeto Nova Cartografia Social da Amazônia.
A iniciativa, considerada pioneira no país, busca apoiar povos e comunidades tradicionais na criação de seus próprios mapas, utilizando ferramentas tecnológicas. Ao reunir registros construídos a partir da perspectiva desses grupos, o projeto pretende oferecer um retrato da ocupação territorial na região e funcionar como instrumento de fortalecimento de lutas sociais. “Quando os povos originários e tradicionais da Amazônia foram apagados do mapa estatal no projeto Grande Carajás, eles decidiram produzir um documento alternativo como estratégia para dar visibilidade à sua existência e defender o seu território”, explica Girardi.
Inspiradas por essa experiência, outras comunidades têm criado suas próprias cartografias para contestar lacunas identificadas em mapas oficiais. O geógrafo Dorival Bonfá Neto, que hoje atua como técnico em assuntos educacionais na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), participa de algumas dessas iniciati-

vas, acompanhando processos de autodemarcação territorial conduzidos por comunidades indígenas na região de Santarém (PA). Um desses projetos envolveu o povo Borari, em Alter do Chão, que aguardava a demarcação de seu território pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) desde 2009. Os mapas oficiais utilizados no processo não abarcavam lugares centrais à vida da comunidade, incluindo áreas consideradas sagradas e outras no rio Tapajós utilizadas para pesca.
Entre o começo de 2024 e fevereiro de 2025, os indígenas Borari decidiram elaborar uma cartografia alternativa, por meio de apoio técnico do Núcleo de Pesquisas sobre Espaço, Política e Emancipação Social (Nepes), vinculado ao curso de geografia da Ufopa, onde Neto atuava como docente naquele ano. O projeto, financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), envolveu a realização de sobrevoos com drones, mapeamentos por imagem, registros de uso e ocupação do solo, além da coleta de dados geográficos orientados por memórias e narrativas de famílias locais. A partir dessas informações, foi elaborado um novo mapa, propondo a autodemarcação da Terra Indígena Borari de Alter do Chão (ver ao lado). O documento passou a fazer parte do processo oficial de demarcação da Funai e poderá subsidiar ações jurídicas, como demandas ao Ministério Público Federal (MPF).
“A produção dessas cartografias dá visibilidade a territórios historicamente marginalizados e fortalece a capacidade de comunidades de reconhecer, nomear e defender seus próprios es -

Comunidade Marrocos 150
paços”, enfatiza a arquiteta e urbanista Mariana Quezado Costa Lima, que faz doutorado na Universidade Federal do Ceará (UFC). No estudo, ela investiga de que forma comunidades urbanas de Fortaleza têm usado mapas como ferramentas para defender direitos, incluindo a negociação de planos diretores, a cobrança de infraestrutura e a resistência a remoções.
Um exemplo nesse sentido aconteceu em 2016, quando um grupo de moradores da comunidade Poço da Draga, na capital cearense, realizou um censo, incluindo variáveis como situação da moradia, escolaridade e renda da população. O resultado revelou discrepâncias com os dados oficiais. Outro exemplo citado pela pesquisadora é o uso
Delimitação Funai/Incra
Autodemarcação
Terra Indígena Borari
Mapas monitoram obras de saneamento na Comunidade Marrocos, na periferia de Fortaleza, em 2023
Ruas segundo moradores
Concluídas
Interrompidas
Problemas após conclusão
Não iniciada Outros
Cartografia criada por indígenas Borari em Alter do Chão (PA) foi incorporada ao processo de demarcação de suas terras
Pontos de referência Borari PA
Ponta do Coatá
Ponta do Cururu
Rio Tapajós
Aldeia Alter do Chão
Ponta do Moretá
Aldeia Caranazal Ponta do Tauá
Jurucuí
Jatobá Ponta de Pedras
Aldeia Curucuruí
O projeto Quebradas
Maps é voltado à cartografia de regiões periféricas de São Paulo
de mapas pelo Observatório da Zeis Bom Jardim, organização de um conjunto de comunidades invisibilizadas e localizadas na periferia sudoeste de Fortaleza, para pressionar a gestão estatal a melhorar as condições de saneamento e moradia da região (ver mapa na página 79).
Girardi, por sua vez, comenta que o mapeamento de regiões vulneráveis se disseminou pelo país, especialmente com o uso de plataformas on-line como GoogleMaps e OpenStreetMap, sendo o Quebrada Maps uma iniciativa significativa elaborada na cidade de São Paulo desde 2015. O projeto trabalha com comunidades da periferia para criar mapas que destacam a cultura local, as histórias e os desafios enfrentados nesses espaços.
A arquiteta e urbanista Clarissa Sampaio Freitas, da UFC, explica que para realizar esse tipo de mapeamento as comunidades precisam, muitas vezes, apoiar-se em parcerias com universidades e organizações não governamentais. “Essas instituições oferecem oficinas de capacitação técnica para ensinar as pessoas a trabalhar com ferramentas para a elaboração de mapas, incluindo programas como o QGIS e o Google Earth”, comenta Freitas, ao pontuar que Fortaleza tem um dos maiores índices de assentamentos informais precários do Brasil.
Sobre iniciativas promovidas em outros países, Sperling menciona o projeto Iconoclasistas, criado em 2006 na Argentina com a proposta de articular metodologias de mapeamento colaborativo com comunidades periféricas e indígenas. Essa iniciativa oferece oficinas de formação, reúne e divulga resultados de processos de cocartografia que aliam saberes locais e acadêmicos, muitas vezes com apoio de instituições culturais e universida-

des públicas (ver mapa na página 78). “No mundo, há mapeamentos feitos por skatistas que propõem repensar o direito da juventude à cidade, mapas feitos em tricô por grupos de mulheres para denunciar o descaso do poder público com inundações, plataformas com imagens on-line para combater o assédio sexual, denunciar crimes do Estado e de corporações econômicas contra populações minoritárias”, complementa Girardi. Ela destaca que algumas dessas experiências foram compiladas no livro This is not an Atlas, publicado pelo grupo alemão Kollektiv Orangotango, em 2018.
Em relação a projetos que elaboram propostas de caráter artístico, Sperling menciona o Canal Motoboy, criado em 2006 por Antoni Abad. O artista catalão distribuiu celulares com câmeras para motoboys percorrerem espaços públicos e privados do estado de São Paulo, registrando imagens e vídeos que são publicados em um site. Ao descreverem seus registros com palavras-chave, esses profissionais colaboram para a construção de uma base de dados multimídia coletiva. “O projeto funciona como uma espécie de cartografia audiovisual da metrópole vista a partir do banco da moto, revelando percursos, ritmos e modos de vida dos motoboys”, propõe Sperling.
O pesquisador cita, ainda, o Atlas do Chão, plataforma colaborativa criada em 2020 por ele e pela arquiteta e urbanista Ana Luiza Nobre, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). A ideia é mapear pontos ligados a processos de colonização, descolonização e urbanização, permitindo que os usuários possam criar conexões entre lugares e compartilhar narrativas geográficas.
Outra iniciativa são os trabalhos do artista plástico brasileiro Marcelo Moscheta, que utiliza deslocamentos e fronteiras como matéria estética. Moscheta, que atualmente faz doutorado em arte contemporânea na Universidade de Coimbra, em Portugal, percorre trajetos mapeados por GPS e realiza coleta de dados no solo e por meio de geolocalização para criar obras que discutem “a precisão da cartografia e a falibilidade da experiência sensível”.
Um dos exemplos nesse sentido é a obra Fixos e fluxos, desenvolvida após uma residência artística realizada no deserto do Atacama, no Chile, em 2013. Em entrevista por telefone, Moscheta explicou que a obra tem como referência conceitos do geógrafo Milton Santos (1925-2001), segundo os quais os pontos fixos são representados por espaços de permanência e pela estrutura dos lugares, enquanto os fluxos são os deslocamentos que atravessam esses territórios.

Partindo dessas ideias, o artista percorreu de carro trechos do deserto chileno com o GPS ligado, gravando na tela a sua rota. Depois, buscou essas coordenadas no Google Earth, realizou capturas de tela em alta resolução e imprimiu-as sobre placas de alumínio. Em cada quadrante da imagem, ele inseriu uma chapa de cobre para criar uma composição que sobrepõe a representação algorítmica do satélite com a experiência corpórea do espaço (ver acima). “Cartografia não é exatidão. É sempre uma interpretação, seja do cartógrafo, seja do artista”, sugere Moscheta.
Sperling destaca, no entanto, que se por um lado a ampliação das cartografias impulsiona processos criativos e produção de mapas comunitários, por outro, grandes empresas do mundo da tecnologia, como o Google, que assentam seus negócios em aplicativos geolocalizados, convertem os dados gerados em mercadoria. No livro recém-lançado, o pesquisador da USP investiga as implicações políticas de tecnologias contemporâneas, questionando sua suposta neutralidade. “Sensores, sistemas de georreferenciamento e bancos de dados massivos são dispositivos atravessados por relações de poder, capazes de moldar comportamentos e intensificar mecanismos de vigilância e controle com base em algoritmos”, constata. Como exemplo dessa dinâmica, o pesquisador menciona plataformas como Airbnb, que, com o aluguel de estadias temporárias, valoriza determinados bairros. “A expansão desse tipo de locação
tem intensificado processos de gentrificação, encarecendo o custo de vida e expulsando populações de áreas centrais, enquanto o turismo avança sobre espaços tradicionalmente residenciais”, comenta. Com a proposta de elaborar um projeto cartográfico independente de tecnologias de grandes corporações, o sociólogo Sérgio Amadeu, da Universidade Federal do ABC (UFABC), desenvolveu em 2020 um mapeamento colaborativo de ações de solidariedade durante a pandemia de Covid-19. Na ocasião, ele identificou, com uma equipe de pesquisa interdisciplinar, iniciativas organizadas por associações de bairro, coletivos culturais, sindicatos e organizações não governamentais em periferias e favelas da Região Metropolitana de São Paulo. “Esses grupos buscavam suprir lacunas nas políticas públicas, oferecendo apoio material e emocional a pessoas em situação de vulnerabilidade”, comenta.
Assim, o Mapa das Práticas Colaborativas de Combate à Covid-19 foi criado em código aberto e hospedado em servidores independentes. Iniciativas como distribuição de alimentos, produção de marmitas e apoio psicológico podiam ser registradas na plataforma. “No auge da pandemia, mais de 1,8 mil iniciativas foram cadastradas no sistema”, conta o pesquisador. O projeto, no entanto, enfrentou dificuldades estruturais ao deixar de receber recursos da universidade em 2021, de forma que o mapa foi retirado do ar. “Hoje estamos tentando reconstituí-lo com a proposta de seguir difundindo ações de solidariedade. Entretanto, sem financiamento de longo prazo, iniciativas como essa não se sustentam, especialmente se pretendem funcionar sem depender de tecnologias de grandes empresas”, finaliza o sociólogo. l
Os artigos científicos, o livro e o relatório consultados para esta reportagem estão listados na versão on-line.

Revoltas no Brasil do século XIX assustaram as elites e intensificaram a repressão contra os escravizados
EDUARDO MAGOSSI ilustrações VALENTINA FRAIZ

ontam que houve uma porção de enforcados/ E as caveiras espetadas nos postes/ Da fazenda desabitada/ Uivam de noite/ No vento do mato.” Os versos são de “Levante”, poema de autoria do escritor Oswald de Andrade (1890-1954), que foi inspirado na revolta dos escravizados de Carrancas, segundo o historiador Marcos Ferreira de Andrade, professor da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), em Minas Gerais.
A insurreição que aconteceu em 1833, na província mineira, é considerada uma das mais sangrentas ocorridas na região Sudeste durante o Império (1822-1889), com a morte de 33 pessoas. Delas, 21 eram escravizadas. Foram também assassinados nove membros da família Junqueira (da elite local), um agregado e duas “pessoas de cor”, que o pesquisador presume serem escravizados ou libertos de confiança da família senhorial. O episódio resultou na maior execução coletiva do Brasil, que levou à morte 16 condenados.
A ligação de Oswald com Carrancas não era por acaso. Segundo o historiador, dois antepassados do modernista, seus tios-bisavós paternos, casaram-se com integrantes da família Junqueira, proprietária das fazendas onde aconteceu a revolta. O poema “Levante” consta do livro de estreia Pau-brasil, lançado em 1925, um ano após Oswald ter revisitado as fazendas da família Junqueira acompanhado do poeta franco-suíço Blaise Cendrars (1887-1961) e de outros colegas modernistas. “Há fortes indícios de que Oswald trouxe para esse poema uma memória familiar e coletiva da região. São histórias que ele certamente ouviu em suas visitas aos parentes no interior de Minas”, afirma o pesquisador, que organizou e escreveu o posfácio do livro Caramurus negros: A revolta de escravos de Carrancas – Minas Gerais (1833), lançado em 2025 pela Chão Editora.
O historiador investiga o tema há mais de 30 anos. Em 1992, ele localizou os autos do processo-crime da revolta, um calhamaço manuscrito com mais de 400 páginas, no Arquivo do Museu Regional de São João del-Rei, e desde então se debruça sobre o episódio ocorrido em 13 de maio de 1833. Nesta data, um grupo de escravizados de três fazendas dos Junqueira – Campo Alegre, Bela Cruz e Jardim – se revoltou e matou membros do clã com paus, foices e armas de fogo. A revolta é denominada de “Carrancas” por uma questão geográfica: as terras envolvidas eram localizadas na então Freguesia de Carrancas, região que, além de Carrancas, compreendia os atuais municípios de Cruzília, São Tomé das Letras e Luminárias.
Donos de fazendas que chegavam a ter mais de 100 escravizados, os Junqueira possuíam outras propriedades de terra, além das três mencionadas, onde criavam gado e porcos, bem como cultivavam cereais, cana e fumo. Um dos integrantes do clã, Gabriel Francisco Junqueira foi eleito deputado pela província de Minas Gerais para a Assembleia Geral (o equivalente hoje ao Congresso Nacional) em 1831, e era o principal representante do partido Liberal Moderado na localidade. “Apesar de não ser contrária à monarquia, essa vertente política questionava o fato de a majestade imperial ter plenos poderes”, conta Andrade. “Ao ser eleito, Junqueira derrotou o candidato do então imperador, Pedro I [1798-1834], e criou inimizades na região.”
De acordo com o historiador, um boato plantado por um ex-aliado dos Junqueira, o agropecuarista e negociante Francisco Silvério, espalhou-se entre os escravizados do clã. Silvério se identificava com o grupo político dos restauradores, também chamados de “caramurus”. Eles defendiam a volta ao Brasil de Pedro I, que havia partido para Portugal naquele mesmo 1831, após
abdicar do trono em favor do filho Pedro II (1825-1891). Em março de 1833, tomaram a capital da província mineira, Ouro Preto, em um conflito conhecido como Sedição Militar.
Na ocasião, Silvério disse ao líder dos escravizados nas fazendas dos Junqueira, conhecido como Ventura Mina, que os caramurus haviam acabado com a escravidão em Ouro Preto. Enquanto isso, Mina e seus companheiros permaneciam sob o jugo daquela família. “Esse foi o estopim da insurreição”, conta Andrade. Mas, segundo o pesquisador, os escravizados não foram massa de manobra. “Eles se mobilizaram em torno da luta pela liberdade”, prossegue.
Ventura Mina conduziu cerca de 60 escravizados pelas três fazendas e acabou morto em uma delas, a Jardim. A revolta foi debelada e os insurretos presos. Dos 31 indiciados, 16 foram enforcados. Outro condenado à morte, Antonio Rezende, teve a pena comutada para prisão perpétua para servir de algoz para os demais réus. Outros quatro seguiram para o açoite. Dez acusados foram absolvidos. As “caveiras espetadas” do poema de Oswald seriam as cabeças decapitadas, cujas imagens permaneceram vivas no imaginário da região.
Apesar da comoção, o levante foi pouco divulgado nos jornais da época.
“Houve uma estratégia de desinformação e censura por parte dos governantes para evitar o pânico entre os senhores e uma parcela da população livre”, relata Andrade. Segundo o historiador, o medo da revolta inspirou uma lei cujo projeto, de junho de 1833, foi enviado para a Câmara dos Deputados pouco depois da insurreição. A proposta previa mais celeridade na punição de escravizados que matassem seus senhores, mas só se transformou em lei em junho de 1835, menos de cinco meses após a eclosão da Revolta dos Malês, em Salvador.
A insurreição baiana aconteceu na madrugada de 25 de janeiro de 1835, quando um grupo liderado pelos malês, nome dado aos muçulmanos nagôs, tomou as ruas da cidade. “As autoridades conseguiram dominar os cerca de 600 revoltosos após cerca de três horas”, diz o historiador João José Reis, da Universidade Federal da Bahia (UFBA), autor de Rebelião escrava no Brasil (Companhia das Letras, 2003), obra de referência sobre o assunto. A revolta foi encabeçada por muçulmanos escravizados e libertos. Entretanto, a documentação revela que africanos não muçulmanos também participaram do levante. Dezesseis pessoas foram condenadas à morte, mas apenas quatro sofreram a pena capital.
Uma versão ficcional do levante, que completa 190 anos em 2025, está em Malês, filme dirigido por Antônio Pitanga. O longa-metragem estreou em outubro nos cinemas brasileiros, após ser exibido em festivais no Brasil e nas universidades Harvard, de Princeton e da Pensilvânia, nos Estados Unidos. “O roteiro é em geral fiel aos acontecimentos”, afirma Reis, que foi consultor do filme.
A Revolta dos Malês deixou ampla documentação. “São mais de 500 depoimentos, interrogatórios e relatórios. É uma das maiores devassas nas Américas para esse tipo de levante”, conta o historiador. “Trata-se de um material riquíssimo não apenas sobre a revolta, mas sobre como era a vida dos africanos na cidade e a relação entre eles, seus senhores e vizinhos.”
Na avaliação de Reis, a rebelião foi um movimento antiescravista, com forte base étnica nagô, como os iorubás (grupo étnico africano) eram conhecidos na Bahia. O próprio vocábulo malê vem de imalé , muçulmano em língua iorubá. Além disso, a insurreição não tinha verve jihadista, como afirmaram outros pesquisadores, a exemplo do antropólogo e médico Raimundo Nina Rodrigues (1862-1906). “Muitos dos revoltosos traziam como ‘amuletos’ pequenos textos árabes devocionais, com orações de proteção. Porém a documentação não mostra que se tratou de um movimento para instaurar um estado muçulmano na Bahia. ”
A pesquisadora Fernanda Pereira Mendes vem se debruçando sobre esses amuletos de africanos muçulmanos, escritos em árabe, no estágio de pós-doutorado que desenvolve atualmente na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP), com apoio da FAPESP. “Esses escravizados escreviam trechos do Alcorão e de obras literárias que se lembravam para manter sua cultura viva, assim como a prática do islã”, explica Mendes, que estuda possíveis conexões entre esses textos árabes e a literatura brasileira do século XIX.
Segundo ela, tais documentos manuscritos, alguns em formato de pequenas cadernetas, representam um dos primeiros testemunhos da religião, da cultura e da língua árabe no Brasil, sendo anteriores aos registros dos imigrantes libaneses, que chegaram no final do século XIX. “Os manuscritos são importantes para o resgate da cultura africana, mas também constituem um patrimônio por si só”, observa.
De acordo com Reis, embora fracassada, a revolta espalhou medo em todo o Império e fez com que os governos provinciais e imperial acirrassem a repressão aos escravizados e libertos. Após esmiuçar o episódio, o historiador vem mergulhando nas histórias de vida de africanos que viveram em Salvador no século XIX. Atualmente, prepara
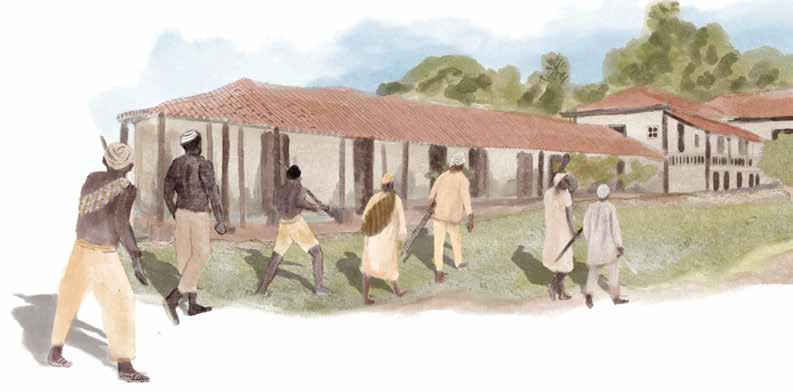
a biografia do comerciante Manuel Joaquim Ricardo, dono de uma loja de cereais no Mercado de Santa Bárbara, na capital baiana. No mesmo local, o muçulmano Elesbão do Carmo, conhecido como Dandara, citado na devassa da revolta, tinha uma venda de fumo. “Através dos documentos, procuro reconstituir a rede de relações de Manuel”, diz. Além disso, Reis estuda outras revoltas no Recôncavo Baiano no início do século XIX, onde escravizados haussás (grupo étnico africano) tiveram papel fundamental, ao contrário da Revolta dos Malês, protagonizada pelos nagôs.
Se, no caso da Revolta dos Malês, as investigações sobre o episódio, seus participantes e motivações foram extensas, elas não existem nas insurreições de Alagoas. Em sua ausência, o historiador Danilo Luiz Marques, da Universidade Federal de Alagoas (Ufal), encontrou em correspondências e relatórios trocados entre autoridades dados que revelam a resistência dos escravizados e libertos da região. Em artigo publicado no final do ano passado, o pesquisador trata de algumas dessas conspirações e rebeliões.
Uma delas foi uma insurreição prevista para o Natal de 1815, supostamente liderada por muçulmanos haussás que haviam fugido da Bahia rumo à comarca de Alagoas e que contaria também com a participação de escravizados de pequenos proprietários de terra locais. “Esses escravizados possuíam certa mobilidade, pois eram responsáveis pelo próprio sustento, bem como o de seus senhores”, informa o historiador.
Em julho daquele ano, autoridades alagoanas anunciaram a suspeita de uma revolta e pediram ajuda logística à capitania de Pernambuco, passando a contar com uma tropa de cerca de 200 indígenas para ajudar a capturar os suspeitos.
As buscas se desenrolaram por meses e no início de 1816 aconteceu em Recife (PE) o julgamento das 28 pessoas acusadas da “sedição premeditada”. Vinte e três delas foram sentenciadas. Duas morreram no cárcere e outras duas enforcadas.
Entretanto, de acordo com o historiador, é provável que a revolta tenha sido planejada unicamente por escravizados e libertos de Alagoas. “O ouvidor Antônio Batalha, que possuía um cargo de grande relevância política, teria criado essa história para mostrar que seu trabalho estava sendo bem-feito na comarca e que essa conspiração só ocorreu em razão da chegada dos malês fugidos da Bahia”, diz Marques.
Outra revolta em Alagoas analisada pelo pesquisador no artigo é a dos Marimbondos (1851-1852). O estopim dessa mobilização foi o anúncio de que entraria em vigor os decretos 797, de registro civil de nascimento e óbito, e 798, do Censo geral do Império. Segundo o pesquisador, as novidades foram interpretadas por pessoas pobres livres e por libertas como artimanhas de escravização e reescravização. “Os populares batizaram as medidas de ‘Lei do Cativeiro’”, conta.
Na ocasião, os editais das leis eram afixados nas igrejas e em repartições públicas, e numerosos grupos passaram a rumar para esses lugares com a meta de destruir os enunciados. “O ruído da população em fúria foi comparado ao zumbido dos marimbondos, o que acabou dando nome ao movimento, também conhecido como ‘Ronco das Abelhas’”, relata Marques. “Era um movimento sem líderes, que uniu brancos e negros, homens e mulheres.” Segundo o historiador, episódios de revoltas pelo mesmo motivo em Pernambuco, Paraíba e norte de Minas levaram o Império a revogar os dois decretos. l
O projeto, os artigos científicos e os livros consultados para esta reportagem estão listados na versão on-line.
O virologista Amílcar
Tanuri esteve na linha de frente das pesquisas sobre microrganismos, do HIV ao zika
MARIANA CECI

O pesquisador durante palestra, em 2016: preocupação com a saúde pública
De chapéu, óculos e máscara, o virologista Amílcar Tanuri olhou para a câmera e ergueu os dedos em V, de vitória e de vacina, ao receber, em 21 de janeiro de 2021, a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. Foi o primeiro servidor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) a ser vacinado. Desde o início da pandemia, a equipe do Laboratório de Virologia Molecular do Instituto de Biologia da UFRJ, liderada por Tanuri, havia realizado mais de 300 mil diagnósticos do Sars-CoV-2, o agente causador da doença, contribuindo para aliviar a sobrecarga do Sistema Único de Saúde (SUS) em uma rede de cooperação que mobilizou universidades de todo o país. A imagem se tornou simbólica também de sua trajetória: o médico dedicou a vida ao estudo dos vírus, consolidan -
do-se como um dos principais especialistas do Brasil e atuando na linha de frente de todas as grandes epidemias que marcaram as últimas décadas, do HIV ao zika, da dengue à Covid-19. O pesquisador morreu em 26 de setembro, no Rio de Janeiro, aos 67 anos, em decorrência de complicações durante o processo de diálise.
Carioca, Amílcar Tanuri ingressou em 1977 no curso de medicina da UFRJ, onde concluiu o mestrado em biofísica (1985) e o doutorado em genética (1990), sob orientação de Darcy Fontoura de Almeida (1930-2014), um dos pioneiros da genética de microrganismos no país. Fez especialização em genética molecular na Universidade de Sussex (1985), no Reino Unido, e era pesquisador associado da Universidade Columbia, nos Estados Unidos. Também coordenava a área de
Ciências Biológicas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj).
Embora tenha se dedicado ao estudo de muitos vírus ao longo da carreira, ganhou notoriedade internacional com suas pesquisas sobre o HIV, causador da Aids, voltadas à compreensão de sua diversidade genética e resistência aos medicamentos (ver Pesquisa FAPESP nº 100). Era, desde 2000, consultor da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a rede de pesquisa sobre a resistência do HIV aos medicamentos (HIV ResNet). Seus estudos foram fundamentais para que o país se tornasse referência mundial no controle e no monitoramento desse vírus.
“O Brasil foi um dos primeiros países a quebrar as patentes dos antirretrovirais, e o Amílcar teve participação crucial nesse processo”, recorda o virologista Renato Santana de Aguiar, do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), orientado por Tanuri no doutorado. Em seu laboratório, o pesquisador testava os lotes de medicamentos produzidos no país, comprovando sua eficácia e a capacidade nacional de fornecê-los gratuitamente pelo SUS, o que sustentou a decisão de quebra de patentes no Brasil.
A expertise adquirida na implementação de sistemas de monitoramento e vigilância no Brasil foi compartilhada por Tanuri com outros países de língua portuguesa que enfrentavam cenários ainda mais graves da epidemia de HIV, como Moçambique e Angola. Neste último, coordenou o primeiro inquérito soroepidemiológico do país sobre a doença, entre 2004 e 2009. Ainda na África, em 2005, atuou em outras epidemias, como a da febre hemorrágica de Marburg (FHM), um vírus da mesma família do que causa a febre hemorrágica ebola.
Diretora do Instituto de Microbiologia Paulo de Góes (IMPG-UFRJ), a virologista Luciana Costa lembra que muitas vezes os pesquisadores trabalhavam com poucos recursos para manipular amostras altamente contagiosas. Nesses momentos, Tanuri atuava como articulador, acionando contatos e instituições para garantir a estrutura necessária de modo a dar prosseguimento aos trabalhos. “Era uma pessoa sempre pronta para encontrar soluções e
resolver problemas relacionados à saúde pública”, lembra Costa.
Tanuri desenvolveu pesquisas relevantes também sobre outras epidemias virais, como a provocada pelo vírus zika. Em abril de 2016, um ano depois da eclosão dos surtos em estados do Nordeste, o pesquisador e sua equipe publicaram na Science um estudo indicando que o vírus atacava células do sistema nervoso, reduzindo seu tamanho e induzindo a sua morte. Em junho do mesmo ano, o grupo publicou na revista The Lancet a descoberta de que o zika podia ser transmitido verticalmente, após sequenciar seu genoma a partir do líquido amniótico de gestantes cujos bebês nasceram com microcefalia (ver Pesquisa FAPESP nº 240).
“Sempre que surgia algo novo, ele corria para tentar entender, mas sem se deixar levar por paixões”, diz o virologista Ricardo Soubhie Diaz, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), colaborador desde os anos 1990. Segundo o pesquisador, muitos cientistas se decepcionam quando suas hipóteses não se confirmam. “O Amílcar não era assim; curioso, não se intimidava diante de tarefas que pareciam impossíveis.”
Carolina Voloch, professora da UFRJ e integrante de sua equipe no Laboratório de Virologia Molecular, conta que Tanuri se manteve ativo até o fim. “No hospital, pedia para reduzir a dose da
medicação sedativa para poder se concentrar melhor. Queria saber do laboratório, da continuidade das pesquisas, dos alunos”, conta. “Ele não era apenas um cientista competente, mas alguém capaz de agregar pessoas, um político no melhor sentido da palavra: sabia tirar o melhor de cada um.”
NOs estudos de Tanuri foram importantes para que o Brasil se tornasse referência mundial no controle do HIV
os últimos anos, Tanuri usou seu poder de articulação para a defesa de uma nova causa: a criação do Centro de Prevenção e Controle de Doenças do Brasil (CPCD-BR). Inspirado no modelo dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, o similar brasileiro buscaria atuar como uma instituição federal capaz de oferecer respostas rápidas, coordenadas e sustentadas a emergências em saúde pública. O virologista havia feito um estágio de pós-doutorado no centro norte-americano, de 1996 a 1998, e foi pesquisador visitante entre 2003 e 2006, além de desenvolver outras atividades científicas em parceria com o órgão no Global Aids Program. N a primeira década do século XXI, deu apoio a nove países da África Subsaariana para o enfrentamento à epidemia de HIV. Pelo trabalho, recebeu o Prêmio de Honra do Centro Nacional de Prevenção ao HIV, Doenças Sexualmente Transmissíveis e Tuberculose dos Estados Unidos, concedido pelo CDC, em 2005. “Onde havia uma epidemia, lá estava o Amílcar. Ele tinha uma preocupação enorme em ligar a pesquisa científica ao sistema público de saúde”, recorda a imunologista Ester Sabino, do Departamento de Patologia da Universidade de São Paulo (USP) e consultora do Instituto Todos pela Saúde, entidade que lidera a proposta do CPCD-BR. Membro da Academia Brasileira de Ciências (ABC), Tanuri recebeu a comenda da Ordem Nacional do Mérito Científico do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, em 1998.
Entre colegas e amigos, sua ausência já se faz sentir. “Só posso desejar ser, para os meus orientandos, a orientadora que ele foi para mim: alguém com entusiasmo contagiante, apaixonado pela ciência e, sobretudo, extremamente humano”, conclui Costa.
Tanuri deixa a mulher, Andrea Tavares, e os filhos Luiza e João. l
Henrique Lins de Barros se notabilizou pelo amplo conhecimento e por sua proficiência em diferentes áreas do saber, de bactérias magnéticas a Santos-Dumont
FERNANDA RAVAGNANI
Quando desistiu de estudar engenharia e iniciou a carreira acadêmica cursando a graduação em física e o mestrado e o doutorado em física atômica, o carioca Henrique Gomes de Paiva Lins de Barros não imaginava que suas pesquisas o levariam a revirar as águas barrentas das lagoas do Rio de Janeiro atrás de bactérias que pudessem dar pistas sobre o início da vida. Muito menos que comporia roteiros para filmes ou que seria considerado um dos grandes especialistas no brasileiro Alberto Santos-Dumont (1873-1932). Reconhecido pelas realizações em todos esses campos e em alguns mais, Lins de Barros morreu em 27 de setembro, aos 78 anos.
“Sua carreira reflete na prática a interdisciplinaridade da história da técnica e da ciência”, ressalta o físico Geraldo Cernicchiaro, do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), no Rio de Janeiro, instituição à qual Lins de Barros esteve ligado desde 1976. “Preocupava-se com os processos de orientação e movimentação de bactérias, mas também de aeronaves. Podia falar sobre literatura, história e transitava por várias áreas do saber. Um polímata, como costumava dizer.”
O apartamento em Copacabana onde cresceu era frequentado por físicos como César Lattes (1924-2005). O pai, Henry British (1917-2000), formado em eletroeletrônica e oficial da Marinha, foi um dos fundadores do CBPF, em 1949, em iniciativa capitaneada pelos físicos José Leite Lopes (1918-2006) e Lattes. Antes de prestar vestibular para física, chegou a pensar em ser músico, seguindo os passos do tio Nelson. A física apresentou-se como alternativa mais viável, apesar do desencorajamento jocoso de Lattes, que declarou ao jovem que tudo o que ele, Lattes, tinha feito não valia uma sinfonia de Mozart (ver Pesquisa FAPESP no 138).
A graduação e o mestrado foram cursados na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), e o doutorado, concluído em 1978, no CBPF. Um filminho granulado mostrando bactérias que “nadavam” seguindo o campo magnético foi o que bastou para desviar a carreira para o campo da biologia. Com a pesquisadora Darci Motta (1944-2022), do CBPF, formou um grupo para procurar as tais bactérias magnéticas nas lagoas fluminenses. Acharam mais do que isso. “Descobriram um
abril de 2024
organismo magnetotático multicelular, o Magnetoglobus, algo nunca observado antes. Não era uma colônia nem um grupo de bactérias, mas um organismo”, recorda-se Daniel Acosta-Avalos, físico da mesma instituição. O termo magnetotático significa que as bactérias são não apenas magnéticas, mas se movimentam seguindo o campo magnético.
Pela relevância das descobertas, um artigo publicado na PLOS Biology em 2024 homenageou o grupo brasileiro com nomes desses consórcios de bactérias. O de Lins de Barros, Candidatus Magnetoglobus debarrosii, vive nos Estados Unidos. Fernanda Abreu, microbiologista da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e integrante do grupo, lembra que Lins de Barros se referia ao Magnetoglobus como o “elo perdido da multicelularidade”, ou seja, elementos da transição dos organismos procariotas (unicelulares) para eucariotas (multicelulares). “São bactérias que podem ter grande importância no entendimento da evolução da vida”, explica.
E não só da vida na Terra. A greigita, um dos minerais que Lins de Barros ajudou a identificar como o cristal de sulfeto de ferro produzido por essas bactérias,

teve recentemente vestígios encontrados em Marte. Já haviam sido encontradas estruturas semelhantes aos nanocristais de magnetita e sulfeto de ferro das bactérias magnéticas no meteorito ALH 84001, em 1985, o que levou Lins de Barros, citado com seu grupo no artigo da Science que descrevia a descoberta, a brincar que havia “marciano na lagoa”, recorda Acosta-Avalos.
Ointeresse pelo brasileiro pioneiro da aviação surgiu quando Lins de Barros precisou dar uma apimentada nas aulas de física. Para isso, pensou em usar o equilíbrio de forças de um avião, lembrando-s e do fascínio que sentia por essas aeronaves ao observá-las, quando criança, da janela do apartamento. Ao cruzar com a inescapável disputa entre Santos-Dumont e os irmãos norte-americanos Orville (1871-1948) e Wilbur (1867-1912) Wright pela paternidade da aviação, resolveu investigar o assunto mais a fundo.
A pesquisa avançou ao entrar em contato com a família do brasileiro. “Quando abri o primeiro álbum, comecei a ver o tesouro que se encontrava em minhas mãos. Mais de 10 mil recortes dos mais
As bactérias descobertas por Lins de Barros podem ajudar a entender a evolução da vida no planeta
variados jornais do mundo inteiro com notícias sobre a vida de Alberto Santos-Dumont”, escreveu em depoimento preservado pelo físico Ricardo Magalhães, atual diretor do Instituto Cultural Santos=Dumont (ICS=D), do qual Lins de Barros foi membro-fundador.
“Henrique Lins de Barros usou sua capacidade como físico para dar um enfoque científico ao que Santos-Dumont fez”, afirma Magalhães. Defendia, nas inúmeras palestras que dava e nos livros que escreveu, que o brasileiro havia inaugurado o
século XX e a aeronáutica ao contornar a Torre Eiffel com seu dirigível em 1901. O físico teve a chance de experimentar as dificuldades enfrentadas por Santos-Dumont quando ajudou o piloto Alan Calassa na construção bem-sucedida de uma réplica do 14-Bis, em 2005. “Quando viu que recorri à engenharia reversa para construir a réplica a partir das fotos do livro dele, disse: ‘Imaginei que alguém ia querer esmiuçar o que escrevi, mas não medir as fotos com um paquímetro!’”, lembra Calassa.
A preocupação com a preservação dos registros históricos da ciência levou Lins de Barros a dedicar-se também à divulgação científica. Chegou a ser diretor do Mast (1992 a 2000), passou pelo Museu do Meio Ambiente do Jardim Botânico (2014 e 2015) e colaborou para formar uma nova geração de museólogos e historiadores da ciência.
“Ele teve participação importante na formação dos fundos arquivísticos de cientistas brasileiros no Mast. Hoje temos mais de 70 cientistas representados”, diz Marcio Rangel, atual diretor do museu. “Era brilhante. Ficávamos embevecidos ouvindo-o explicar as coisas”, relembra Rangel, que foi orientado por Lins de Barros em uma iniciação científica em 1993.
Aposentado do CBPF desde a pandemia de Covid-19, o físico seguia atuante em casa, ao lado da antropóloga Myriam Moraes Lins de Barros, com quem estava casado havia 54 anos. Desenhava, pintava, produzia música e escrevia ficção, com a mesma inquietação que o fizera elaborar o roteiro do filme O homem pode voar, dirigido por Nelson Hoineff, em 2006.
Na internação de 40 dias em julho deste ano, devido a uma pneumonia e um aneurisma, distribuiu cópias de seu livro de contos Minto, logo existo (Dialética, 2023) para quem quer que entrasse no quarto. Após a alta, recuperava-se bem em casa, quando sofreu um infarto fulminante.
Além da esposa, Myriam, deixa as filhas Monica, bióloga, e Flavia, geógrafa, e quatro netos. O filho Daniel, havia perdido em 2011. Gêmeo de Roberto, que viveu apenas quatro dias após o parto prematuro em 1972, Daniel tinha deficiências devido a uma lesão cerebral. Era motivo de orgulho para Lins de Barros e presença frequente na plateia das palestras do pai. l

No século XIX, o médico Nina Rodrigues tentou explicar as desigualdades sociais e a criminalidade por meio de traços físicos, como depressões no crânio ENRICO DI GREGORIO
Em 1897, o Exército brasileiro destruiu o arraial de Canudos, suposto reduto antirrepublicano no interior da Bahia, e trucidou quase todos seus moradores. Os soldados desenterraram o corpo do líder rebelde, o beato cearense Antônio Vicente Mendes Maciel (1830-1897), o Conselheiro, cortaram-lhe a cabeça e a levaram à Faculdade de Medicina da Bahia, um dos núcleos de ensino superior a partir do qual se formou a atual Universidade Federal da Bahia (UFBA).
O médico maranhense Raimundo Nina Rodrigues (1862-1906), um dos professores da faculdade, examinou a cabeça. Ele é considerado o fundador da antropologia criminal brasileira, um dos primeiros a estudar a cultura negra no Brasil e a dar importância à questão racial para a compreensão da formação da população brasileira. Convicto de que
o formato e as deformações do crânio determinavam comportamentos, queria provar que Antônio Conselheiro tinha predisposição à loucura e ao crime.
A abordagem adotada era a chamada frenologia, formulada pelo médico alemão Franz Joseph Gall (1758-1828) e aplicada pelo criminalista italiano Cesare Lombroso (1835-1909), para quem a criminalidade poderia ser identificada por traços físicos, como depressões ou protuberâncias no crânio. No livro As raças humanas e a responsabilidade penal no Brasil (1894), Nina Rodrigues escreveu que era um erro a lei brasileira tratar como “iguais perante o código [penal] os descendentes do europeu civilizado, os filhos das tribos selvagens da América do Sul, bem como os membros das hordas africanas, sujeitos à escravidão”.
Ele não conseguiu, porém, aplicar a teoria ao crânio do líder de Canudos. 1
Em seu doutorado, concluído em 2016 na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o historiador Filipe Monteiro, atualmente na Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg), revisou a análise feita por Rodrigues no crânio de Conselheiro e verificou: “A conclusão foi inequívoca. Ele próprio escreveu: ‘É, pois, um crânio normal’. O que de fato ele conseguiu apontar foi um delírio crônico de evolução sistemática, que à época era considerado como possível somente em pessoas brancas”.
“Naquele momento, Nina Rodrigues começou a questionar os métodos da craniometria, que defendiam uma inferioridade biológica de raças ou indivíduos”, diz Monteiro, que classificou o médico como um “racialista vacilante” em sua tese e em um artigo publicado em janeiro de 2020 na revista Topoi . Embora nunca tenha defendido a eugenia, o nome

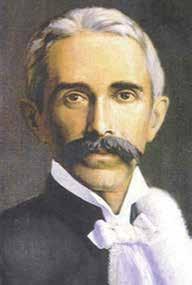
do médico continuou bastante ligado a essa doutrina, formulada pelo médico inglês Francis Galton (1822-1911), que pregava uma suposta superioridade de algumas raças humanas sobre outras e defendia o melhoramento genético dos seres humanos.
Oracismo é um conceito mais amplo que o da eugenia porque define um sistema de opressão de várias supostas raças humanas por outras e tem uma série de consequências que podem ir além do melhoramento racial, como a segregação racial e a negação de direitos a indivíduos de uma ou mais raças. O racialismo é a base teórica que defende que a espécie humana pode ser dividida em raças biológicas distintas e classificadas de acordo com uma suposta superioridade; é a justificativa alegadamente científica para a criação de um sistema desigual, e a eugenia é uma das medidas que podem existir em uma sociedade racista.
Filho de fazendeiros, Nina Rodrigues mudou-se em 1882 de São Luís, capital do Maranhão, para Salvador. Ingressou na Faculdade de Medicina da Bahia e, três anos depois, transferiu-se para a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Em 1886, no quinto ano do curso, fez seu primeiro trabalho acadêmico, sobre a morfeia, uma doença autoimune que causa endurecimento e descoloração da pele, em moradores de Anajatuba, norte do Maranhão. Em 1887, voltou para Salvador e começou a estagiar na Santa Casa de Misericórdia
Retrato do médico, atribuído a Lopes Rodrigues
antes de retornar, mais uma vez, para o Rio de Janeiro. Terminou o curso na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em dezembro de 1887.
Uma vez diplomado, Nina Rodrigues pôs-se a escrever sobre hanseníase, então chamada de lepra, na Gazeta Médica da Bahia , e sobre os impactos da má alimentação na saúde no jornal Pacotilha , de São Luís, no breve período em que voltou a morar na cidade antes de se mudar em definitivo para Salvador. Seus trabalhos, que indicavam o uso da farinha de mandioca como suplemento alimentar, repercutiram tanto que ele ganhou o apelido pejorativo de “Doutor Farinha Seca”.
O estudo da cultura afro-brasileira também o atraiu. “Ele visitava casas de religiões de matriz africana e estudava seus rituais”, conta Monteiro. “Foi nessas visitas que ele fez os estudos antropológicos pelos quais ficou conhecido, como o livro O animismo fetichista dos negros baianos, de 1896.”
No livro O velho e o novo “Nina” (1979), Estácio de Lima (1896-1984), alagoano e professor da Faculdade de Medicina da Bahia, conta que os médicos mais experientes estranhavam os interesses do jovem colega. “Nina está maluco!”, diziam, segundo Lima. As razões, conforme ele apurou: “Frequenta candomblés, deita-se com inhaôs [ou iaôs, pessoas iniciadas no candomblé] e come a comida dos orixás”.
Em contrapartida, outros o chamavam, com respeito, de “Doutor dos Pobres”, por ter se destacado no tratamento de doenças mais comuns entre os mais humildes, como hanseníase, malária e beribéri, causada pela falta de vitamina B1, mas então ainda atribuída a exalações pútridas chamadas miasmas. Nina Rodrigues participou diretamente do controle de um surto de beribéri no Asi-
lo de Alienados São João de Deus, atual Hospital Juliano Moreira, em Salvador. Em 1904, 58 de seus 180 ocupantes, todos com transtornos mentais, morreram por causa da infecção.
Em um artigo publicado em junho de 2001 na revista História, Ciências e Saúde –Manguinhos , os médicos da Faculdade de Medicina da Bahia (Fameb-UFBA) Ronaldo Jacobina e Fernando Carvalho examinaram esse episódio. Eles contam que Nina Rodrigues visitou o asilo, situado no alto de uma colina, e concluiu que o vento e a chuva não deveriam ter permitido a formação de miasmas. Por fim, provou que não era o ambiente, mas as condições com que seus ocupantes eram tratados que causavam as mortes. Em seguida, propôs e integrou uma comissão responsável por reformas da instituição.
Em Salvador, Nina Rodrigues também participou de estudos para a reforma de saneamento básico e da fiscalização sanitária dos portos. Esses trabalhos seguiam as ideias higienistas que chegaram no Brasil no século XIX, apelando para uma maior atenção aos hábitos de higiene sanitária como estratégia para evitar doenças contagiosas (ver Pesquisa FAPESP nº 134). Para ele, as embarcações da época, apinhadas de estrangeiros confinados durante meses de viagem por mar, eram
Nina Rodrigues criou métodos de trabalho e de análises detalhadas dos cadáveres, base da medicina forense
um ambiente favorável à propagação de doenças. “Nina Rodrigues dizia que o governo não tinha equipamentos para higienizar os portos nem mesmo para tirar o péssimo odor que ficava nesses lugares”, conta Monteiro.
O médico se destacou também na área da medicina forense, que aplica conhecimentos médicos e científicos para auxiliar a justiça na resolução de questões legais. Antes dele, o Brasil não tinha métodos, laboratórios nem manuais para legistas. “Muitas vezes, quando uma pessoa morria, o corpo era examinado superficialmente na delegacia e depois
enterrado ou descartado”, comenta Monteiro. “Nina começou a falar da importância dos laboratórios e fazer análises rigorosas e detalhadas dos cadáveres para determinar a causa das mortes.”
Esse trabalho o levou a conclusões controversas. “Ele aproveitava as medições dos cadáveres para tentar provar teorias racialistas de que algumas raças eram inferiores a outras”, conta Monteiro, em referência às ideias que mais tarde, já no século XX, chegaram ao Brasil com outras correntes de pensamento racistas, como a eugenia.
EUGENIA E OUTRAS PROPOSTAS
“As ideias de superioridade racial chegaram como algo científico, ancoradas no darwinismo social”, diz o historiador Weber Lopes Góes, da Universidade Federal do ABC (UFABC), que pesquisou a história do movimento eugenista no Brasil no mestrado e no doutorado. O darwinismo social tentava explicar o racismo, o colonialismo e a desigualdade social ao aplicar de maneira equivocada as teses da evolução biológica no estudo de fenômenos sociais. Essas novas vertentes do pensamento misturavam-se com teorias então vistas como científicas, como o higienismo e o positivismo, corrente de pensamento criada pelo filósofo francês Augusto Comte (1798-1857), segundo a qual o único conhecimento

Asilo São João de Deus: em 1904, 58 pacientes morreram de beribéri, inicialmente atribuído ao ar contaminado
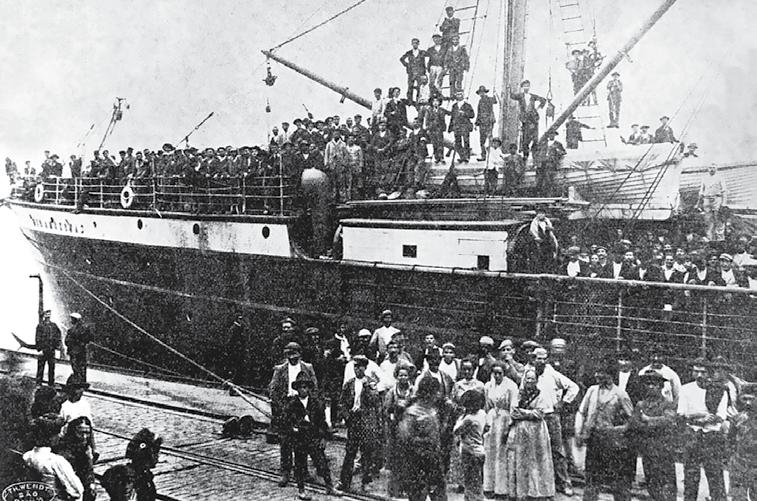
válido era o científico, verificado por métodos empíricos.
No Brasil, as teorias eugenistas, com o apoio da burguesia e dos latifundiários, logo se propagaram. Em 1917, o médico carioca Renato Kehl (1889-1974) deu uma palestra na Associação Cristã de Moços (ACM), no Rio de Janeiro. Publicado no Diário do Comércio, também do Rio, o discurso serviu para atrair nomes para a fundação da Sociedade Eugênica de São Paulo em 1918. “Os membros dessa agremiação começaram a discutir como a eugenia poderia ajudar no combate a doenças, como a febre amarela, e o que
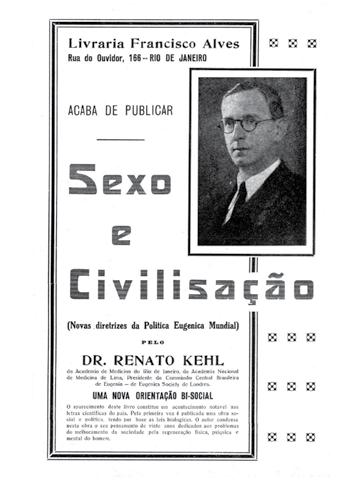
eles chamavam de venenos sociais, referindo-se a questões como o alcoolismo”, comenta Góes.
“Avaliar Nina Rodrigues sempre leva a um dilema”, diz o historiador Leonardo Dallacqua de Carvalho, da Universidade Estadual do Maranhão (Uema), autor do livro Um maranhense intérprete da miscige(nação): Raimundo Nina Rodrigues e a formação racial brasileira (1862-1906) (2025). “Em vários momentos, ele tentou proteger os direitos dos cidadãos pretos, mas a base para essa defesa era sua crença de que eles eram inferiores.”
Carvalho enfatiza: “Não é correto chamar Nina Rodrigues de pai da eugenia”. Seu argumento: “A eugenia só começa a ser discutida no Brasil em 1910. Ele era um racialista, mas a eugenia não estava entre as teorias que mobilizava para sustentar sua perspectiva sobre as desigualdades raciais”. Por sua vez, Monteiro observa: “Ele estava começando a contestar as teorias racialistas, sem renegar, em essência, seus postulados gerais. A conclusão a que chega após o estudo do crânio de Antônio Conselheiro indica esse afastamento”.
Entre o século XIX e a década de 1930, com base em um suposto fundamento científico, vários estados norte-americanos adotaram medidas eugenistas, como a castração de doentes mentais e criminosos. No Brasil, a única política eugenista apoiada abertamente pelo governo federal, por meio da Constituição de 1934, foi o estímulo à “educação eugênica”,
Italianos chegam a Santos em 1907: para Nina Rodrigues, falta de higiene durante a viagem facilitava a propagação de doenças
segundo a qual o melhoramento racial poderia ser alcançado pela procriação entre as pessoas de raças classificadas como mais evoluídas.
Outras medidas eugenistas foram aplicadas extraoficialmente. “Pessoas que não eram necessariamente loucas, mas apenas pobres e pretas, eram internadas nos manicômios, onde havia até mesmo a prática de esterilização compulsória”, relata Góes. “Durante o regime militar [1964-1985], setores das Forças Armadas, usando as universidades e o apoio da Fundação Rockefeller, criaram programas de esterilização de mulheres pobres no Nordeste sob a justificativa de controle de natalidade.” Essa prática também ocorreu em outras regiões do Brasil, ainda que em menor escala. De acordo com a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Esterilização, criada em 1992, 7,5 milhões de mulheres em idade reprodutiva haviam sido esterilizadas no Brasil desde 1964.
Há casos mais recentes. Em fevereiro de 2018, o juiz Djalma Moreira Gomes acatou o pedido do promotor da comarca de Mococa, no interior de São Paulo, Frederico Liserre Barruffini, de esterilizar a moradora de rua Janaina Aparecida Quirino, julgada como incapaz de criar filhos por ser pobre e usuária de drogas. Um julgamento em segunda instância reverteu a decisão, mas só três meses depois que a cirurgia irreversível já havia sido feita.
“A eugenia ainda existe, mas não devemos banalizar o conceito, diferenciando o que é racismo e o que é eugenia, para saber combater cada um a seu modo”, comenta Carvalho. “É uma ideia muito difícil de abolir, porque a sociedade moderna está baseada nessa busca incessante da melhoria do indivíduo.” l
Os artigos científicos e os livros consultados para esta reportagem estão listados na versão on-line.
A pedagoga Patrícia Rosas cresceu em um lixão e criou projeto que beneficiou cerca de 4 mil crianças na Paraíba
Nasci em Campina Grande, na Paraíba, em 1983. Meu pai fazia bicos como pedreiro e minha mãe era empregada doméstica. Nenhum dos dois conseguiu estudar. Não tínhamos livros, revistas ou mesmo jornais em casa. Na verdade, durante parte da minha infância, nem tive casa. Moramos com a minha avó materna por um tempo. Q uando a família cresceu – sou a terceira, de 10 filhos –, a impossibilidade de arcar com um aluguel obrigou meu pai a construir um barraco no Serrotão, que, até 2012, era um dos maiores lixões a céu aberto do Nordeste.
Na época da mudança, eu tinha 6 anos. As condições eram precárias, mas lembro que, quase todas as noites, meus irmãos e eu nos sentávamos em volta da minha mãe para ouvir histórias que ela contava de cabeça, como João e Maria ou Cinderela. Era minha hora favorita do dia.

Entrar na escola, aos 7 anos, me impactou muito. Foi um divisor de águas, porque aquele lugar se tornou meu refúgio. Pela primeira vez tive acesso aos livros, à leitura. Ainda lembro do nome da minha professora, Rosa. Ela fazia questão de acolher os alunos com um abraço e um sorriso. Já nesses primeiros anos comecei a acalentar o sonho de ser professora. Para continuar na escola, alternava os estudos com o trabalho. Até os 9 anos, catava ossos de animais no lixão e os vendia para uma fábrica de sabão. Um pouco mais velha, trabalhei na roça, fui ajudante de limpeza em um matadouro e babá. Pouco antes de concluir o ensino fundamental I, mudamos para uma ocupação que, posteriormente, foi legalizada pela prefeitura e hoje é a Comunidade Nossa Senhora Aparecida, no bairro Catolé, em Campina Grande.
Aos 18 anos dei minha primeira aula como professora nos anos iniciais do
ensino fundamental. Isso foi antes de concluir o ensino médio técnico em magistério, em 2002, que cursei em uma escola pública próxima à minha casa.
Trabalhar com crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social foi uma escolha que se repetiu ao longo da minha trajetória profissional de 22 anos como professora nas redes municipal e estadual de ensino. Ao optar pelas escolas na periferia e na zona rural ou pelas turmas da Educação de Jovens e Adultos [EJA], que atende pessoas que não concluíram seus estudos na idade considerada regular, meu desejo foi (e ainda é) de acolher como fui acolhida na infância, de mostrar o impacto que a educação pode ter na vida dos alunos, como teve na minha. Minha escolha pela graduação em letras também é fruto desse desejo. Entrei em 2003, na Universidade Estadual da Paraíba [UEPB], em Campina Grande. Fui a primeira pessoa da minha família a in-
Na outra página, Rosas no campus da UFPB, em João Pessoa, e, à direita, na posse como professora da universidade, em 2024

gressar em um curso superior. Enfrentei muitos desafios, como caminhar todo dia uma hora e meia para chegar no campus e depois fazer o mesmo trajeto de volta. Mas esse foi também um tempo de aprendizado que influenciou profundamente minha prática pedagógica. Na faculdade tive contato, por exemplo, com a teoria do filósofo da linguagem Mikhail Bakhtin [1895-1975], para quem a comunicação só acontece a partir da interação genuína entre diferentes vozes e perspectivas. E, claro, conheci o pensamento do educador Paulo Freire [1921-1997], que valoriza o conhecimento prévio dos alunos e uma educação emancipatória. Acredito no potencial transformador da leitura e da escrita. São ferramentas que nos possibilitam conhecer o mundo, mas, principalmente, nos ajudam a contar nossa própria história. Entretanto, para que o aluno seja bem-sucedido nessas práticas, é fundamental conferir um sentido a elas, gerar conexões que extrapolem o contexto escolar. Fico incomodada quando vejo que a motivação para elaborar uma redação seja apenas para passar de ano ou no Enem [Exame Nacional do Ensino Médio]. Foi a partir dessas inquietações que, no mestrado, optei por investigar o processo de ensino-aprendizagem de escrita de estudantes do programa “Acelera Bra-

SAIBA MAIS
Clube Sarau e Linguagem da UFPB
sil”, do Instituto Ayrton Senna, que atendia alunos com atraso de dois ou mais anos escolares. O estudo foi concluído em 2010 na Universidade Federal de Campina Grande [UFCG] e, entre outras coisas, chamo a atenção para a necessidade de se criar um vínculo entre a realidade do aluno e a produção do texto. Já no doutorado em linguística, na Universidade Federal da Paraíba [UFPB], mudei meu foco. A ideia surgiu a partir de um comentário do papa Bento XVI [1927-2022], em 2007, que tachou o segundo casamento como “praga social”. Na pesquisa, investiguei os comentários na internet em reação à fala papal, utilizando uma perspectiva bakhtiniana.
Pouco depois de concluir o doutorado, em 2017 fiz a seguinte proposta aos alunos da Escola Municipal Tertuliano Maciel, em Queimadas, no agreste paraibano: “E se vocês escrevessem um texto que pudesse ser lido pelos seus colegas, pelos seus pais e até mesmo por um público mais amplo? E se criássemos uma revista para publicar esses textos?”. Foi assim que surgiu o projeto “Desengaveta meu texto”, para incentivar a leitura e a escrita entre crianças e jovens do ensino fundamental II. Um dos frutos foi a revista Tertúlia , em formato digital e impresso. No ano seguinte, obtivemos recursos da Fundação Carlos Chagas e do Itaú Social que possibilitaram expandir a iniciativa para mais cinco escolas de Campina Grande, em parceria com a rede estadual de ensino. Em 2019, o projeto venceu o concurso da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil e, como prêmio, recebemos li-
vros para a biblioteca da escola Tertuliano Maciel. Assim, passamos a organizar clubes de leitura para os alunos e seus familiares nas bibliotecas das outras escolas que adotaram o projeto.
Na pandemia, tivemos encontros virtuais e os participantes recebiam os livros em suas casas por meio de um aplicativo, o Delivery Literário. Pelo trabalho, fomos finalistas do Prêmio Jabuti em 2018, 2019 e 2021. Em 2022, fui agraciada com o Prêmio LED –Luz na Educação, da Rede Globo e da Fundação Roberto Marinho, na categoria Educação Básica. Cerca de 4 mil crianças foram impactadas pelo Desengaveta em Campina Grande, desde 2017.
No ano passado mudei para João Pessoa para assumir o cargo de professora no Departamento de Metodologia da Educação da UFPB e infelizmente precisei descontinuar o projeto. Após anos na educação básica, agora minha missão é formar novos professores. Dentre tantas novidades, não me afasto do propósito de valorizar a escrita, a leitura e a circulação do conhecimento. Isso culminou na publicação de três livros com crônicas, memórias e relatos, que assino em coautoria com meus alunos na universidade, e na realização de saraus literários, que acontecem no próprio campus
Acabei de aprovar um projeto sobre práticas de letramento acadêmico em um edital da universidade no qual pretendo aplicar a metodologia do Desengaveta. Minha meta é, por meio da leitura e da escrita, preparar esses futuros professores para pensar e agir. l
WILTON JOSÉ MARQUES
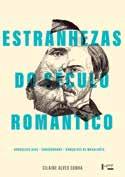
Estranhezas do século romântico:
Gonçalves Dias, Sousândrade, Gonçalves de Magalhães
Cilaine Alves Cunha
Edusp
288 páginas
R$ 50,40
Em parte da crítica literária atual, quando se discute o passado literário, transpira a falsa impressão de que já se disse tudo, o que faz com que obras, canônicas ou não, sejam empurradas para lugares menores ou, o que é pior, apenas deixadas de lado. Entretanto, tal postura excludente, condicionada por modismos teóricos, é logo posta abaixo quando o óbvio vem à tona, isto é, a certeza de que há sempre novas possibilidades de se revisitar o passado, dependendo somente do ajuste do olhar e da sensibilidade analítica.
Pois bem, é justamente em sentido revitalizador que Estranhezas do século romântico: Gonçalves Dias, Sousândrade, Gonçalves de Magalhães, de Cilaine Alves Cunha, entra na cena crítica, atualizando o debate. Nesse livro, a autora – conhecedora, como poucos, desse “mar imenso” de “eco incerto” – oferece ao leitor, especializado ou não, a possibilidade de compreender o percurso dos aspectos teórico-estéticos que guiaram a chegada dos ventos românticos por aqui e, mais importante, geraram influxos definidores no processo de construção da literatura brasileira.
Em três capítulos, o livro discute temas caros ao romantismo. Entretanto, destaque-se que são precedidos por uma alentada introdução que reafirma o caráter plural das ideias românticas, o que, de saída, implica a impossibilidade de pensar na existência de um único vetor que teria supostamente norteado o nosso desenvolvimento romântico. Assim, questionando, como pano de fundo, a tradicional divisão geracional dos autores, revisita as diferentes concepções historiográficas de Sílvio Romero e José Veríssimo, e ainda apresenta as concepções de literatura dos dois Gonçalves. De imediato, fugindo da redutora leitura, entranhada na tradição crítica, que enxerga Gonçalves Dias apenas e tão somente pela lente indianista, o primeiro capítulo, o mais robusto, apresenta uma visada geral sobre a poética gonçalvina. Desde a incorporação de traços neoclássicos na fatura literária, articulados com elementos propriamente românticos, passando pela leitura de Meditação e sua crítica à escravidão e pela leitura, ancorada no conceito do sublime, dos poemas “Leito de folhas verdes” e “A tempestade”, este último, em olhar inovador, lido em perspectiva
algo conciliadora como alegoria das revoltas que marcaram a primeira metade do século XIX.
O segundo capítulo apresenta uma fina leitura de O Guesa , de Sousândrade, procurando revalorizar este poema, pouco discutido pela crítica, seja a partir de afinidades literárias entre o autor e Gonçalves Dias, bem como por meio da ferina crítica à sociedade brasileira por meio de procedimentos como a “sátira irônica, com a ironia em eco, a paródia e o pastiche”. Passando pela discussão do conceito do gênio, do sublime, da relação com a tradição literária e da presença do medievismo, em também visada comparativa com o autor dos Primeiros cantos
No terceiro capítulo, em leitura cerrada, a autora trata do “Ensaio sobre a história da literatura do Brasil”, de Gonçalves de Magalhães, pensando-o como “um guia prescritivo de leis e normas capazes de especificar a brasilidade da literatura”. A métrica valorativa de Magalhães indica sua adesão incondicional à ideologia de sentimento nacional e à noção de progresso, e, para isso, fundamenta seu pensamento no ecletismo, ao mesmo tempo que estabelece a premência da relação entre os autores e o Estado, isto é, explicita o desejo “de que o governo imperial patrocine a corporação, transformado ali em necessidade da nação”.
Em outras palavras, o livro, além de rediscutir os projetos estéticos dos autores, é uma contribuição inegável (e renovadora) para o entendimento da centralidade do movimento romântico na configuração da cultura literária brasileira. Em tempo, em par com este livro, a autora também publicou, em outra visada original, Fragmentos de humor: Álvares de Azevedo, Bernardo Guimarães e Manoel Antônio de Almeida , trazendo à baila, entre outras formas de humor, a ironia, não como elemento incidental, mas, ao contrário, como elemento estruturante das respectivas obras.
Enfim, partindo das necessárias estranhezas, a leitura conjunta dos livros é um duplo e significativo ganho para os interessados nas contradições românticas que nos formaram. Numa palavra, incontornáveis.
Wilton José Marques é professor titular de literatura brasileira na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
PRESIDENTE
Marco Antonio Zago
VICE-PRESIDENTE
Carmino Antonio de Souza
CONSELHO SUPERIOR
Antonio José de Almeida Meirelles, Carlos Gilberto Carlotti Junior, Felipe Ferreira Guimarães Figueiredo, Franklim Shunjiro Nishimura, Helena Bonciani Nader, Herman Jacobus Cornelis Voorwald, Marcílio Alves, Maria Arminda do Nascimento Arruda, Pedro Wongtschowski, Thelma Krug
CONSELHO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
DIRETOR-PRESIDENTE
Carlos Frederico de Oliveira Graeff
DIRETOR CIENTÍFICO
Marcio de Castro Silva Filho
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Fernando Menezes de Almeida
COMITÊ CIENTÍFICO
Luiz Roberto Giorgetti de Britto (Presidente), Ana Claudia Latronico, Ana Claudia Torrecilhas, Ana Cristina Gales, Ana Maria Fonseca de Almeida, Carlos Frederico de Oliveira Graeff, Daniel Scherer Moura, Dario Simões Zamboni, Deisy de Souza, Douglas Zampieri, Eduardo Magalhães Rego, Eduardo Zancul, Fabiana Cristina Komesu, Fernando Menezes de Almeida, Flávio Henrique da Silva, Gustavo Dalpian, Helena Lage Ferreira, João Pereira Leite, José Roberto de França Arruda, Lício Augusto Velloso, Liliam Sanchez Carrete, Luiz Nunes de Oliveira, Luiz Vitor de Souza Filho, Marcio de Castro Silva Filho, Marco Antonio Zago, Mariana Cabral de Oliveira, Marta Arretche, Michelle Ratton Sanchez Badin, Nina Stocco Ranieri, Paulo Schor, Richard Charles Garratt, Rodolfo Jardim Azevedo, Sergio Costa Oliveira, Sidney José Lima Ribeiro, Sylvio Canuto, Vilson Rosa de Almeida
COORDENADOR CIENTÍFICO
Luiz Roberto Giorgetti de Britto
DIRETORA DE REDAÇÃO
Alexandra Ozorio de Almeida
EDITOR-CHEFE
Neldson Marcolin
EDITORES Fabrício Marques (Política Científica e Tecnológica), Carlos Fioravanti (Ciências da Terra), Marcos Pivetta (Ciências Exatas), Maria Guimarães (Ciências Biológicas) e Ricardo Zorzetto (Ciências Biomédicas), Yuri Vasconcelos (Tecnologia), Ana Paula Orlandi (Humanidades) e Christina Queiroz (editora assistente)
REPÓRTER Sarah Schmidt
ARTE Claudia Warrak (Editora), Júlia Cherem Rodrigues e Maria Cecilia Felli (Designers), Alexandre Affonso (Editor de infografia)
FOTÓGRAFO Léo Ramos Chaves
BANCO DE IMAGENS Valter Rodrigues
SITE Yuri Vasconcelos (Coordenador), Jayne Oliveira (Coordenadora de produção), Kézia Stringhini (Redatora on-line)
MÍDIAS DIGITAIS Maria Guimarães (Coordenadora), Renata Oliveira do Prado (Editora de mídias sociais), Vitória do Couto (Designer digital )
VÍDEOS Christina Queiroz (Coordenadora)
RÁDIO Fabrício Marques (Coordenador) e Sarah Caravieri (Produção)
REVISÃO Alexandre Oliveira e Margô Negro
REVISÃO TÉCNICA Bernardo Mançano Fernandes, Célio Haddad, Daniel Scherer, Fabiana Komesu, Fabiana Luci de Oliveira, Flávia Brito do Nascimento, Gabriela Pellegrino Soares, Gustavo Romero, Gustavo Wiederhecker, Jean Ometto, José Roberto de França Arruda, Liane Azevedo, Luiz Eduardo Oliveira e Cruz de Aragão, Luiz Nunes de Oliveira, Reinaldo Salomão
COLABORADORES Ana Carolina Fernandes, Diego Bresani, Domingos Zaparolli, Eduardo Magossi, Enrico Di Gregorio, Fernanda Ravagnani, Fernando de Almeida, Frances Jones, Gidalti Jr., Gilberto Stam, Irene Almeida, Márcio Miranda, Mariana Ceci, Mônica Manir, Patricia Mariuzzo, Reinaldo José Lopes, Sophia La Banca, Valentina Fraiz, Wilton José Marques
MARKETING E PUBLICIDADE Paula Iliadis
CIRCULAÇÃO Aparecida Fernandes (Coordenadora de Assinaturas)
OPERAÇÕES Andressa Matias
SECRETÁRIA DA REDAÇÃO Ingrid Teodoro
É PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE TEXTOS, FOTOS, ILUSTRAÇÕES E INFOGRÁFICOS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO
TIRAGEM 28.000 exemplares
IMPRESSÃO Plural Indústria Gráfica
DISTRIBUIÇÃO RAC Mídia Editora
GESTÃO ADMINISTRATIVA FUSP – FUNDAÇÃO DE APOIO
À UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
PESQUISA FAPESP Rua Joaquim Antunes, nº 727, 10º andar, CEP 05415-012, Pinheiros, São Paulo-SP
FAPESP Rua Pio XI, nº 1.500, CEP 05468-901, Alto da Lapa, São Paulo-SP
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO


BOAS PRÁTICAS
Gostaria de parabenizar a revista pela regularidade de matérias que tratam de fraudes e má conduta na pesquisa científica. Embora a vida acadêmica ainda apresente diversos pontos positivos em termos de lisura dos pesquisadores, compromisso com a verdade, disseminação e avanço do conhecimento, não observáveis comumente em outros setores da economia, aumenta a frequência de situações lastimáveis por parte de seus membros. Para complicar, o mercantilismo nas publicações científicas inverte a lógica tradicional. Paga-se para publicar conhecimento de ponta. Ao se juntar o pesquisador de má índole à abordagem “pagou-publicou”, tem-se esses resultados.
Eduardo Krüger
PODCAST PESQUISA BRASIL
Os rankings acadêmicos falam muito sobre excelência científica, mas pouco sobre as condições humanas por trás dela (“A sedução dos rankings acadêmicos”, 17/10). É preciso também medir a qualidade da saúde mental e das condições de trabalho de quem a produz. Afinal, não existe ciência de excelência quando ela é sustentada pelo adoecimento de quem a faz. Mateus Xavier de Queiroz
RECOMPOSIÇÃO DA FAUNA
Um ecossistema completo consiste em animais nativos que comem as frutas nativas da Mata Atlântica (“Da de -
ASSINATURAS, RENOVAÇÃO E MUDANÇA DE ENDEREÇO
Envie um e-mail para assinaturaspesquisa@fapesp.br
PARA ANUNCIAR
Contate: Paula Iliadis E-mail: publicidade@fapesp.br
EDIÇÕES ANTERIORES
Preço atual de capa acrescido do custo de postagem. Peça pelo e-mail: assinaturaspesquisa@fapesp.br
LICENCIAMENTO DE CONTEÚDO
Adquira os direitos de reprodução de textos e imagens de Pesquisa FAPESP E-mail: redacao@fapesp.br
faunação à desextinção”, edição 356).
O trabalho é fantástico!
Thiago Balzana
VÍDEOS
Parabéns por resgatarem um dos maiores ícones arquitetônicos brasileiros, de uma beleza tão sutil e leve, uma verdadeira bossa-nova de concreto armado! Animado para conhecer esse interior e suas paredes repletas de arte (“O renascimento do Palácio Gustavo Capanema”).
Luiz Paulo Medeiros
Quando era criança, encontrava esses pequenos seres no quintal de casa. Aliás, via borboletas, serra-paus, gafanhotos coloridos, louva-deus e vários passarinhos. Tudo isso na periferia de São Paulo. Hoje, quase tudo desapareceu... (“Cópula dos opiliões: como é o acasalamento desses aracnídeos de pernas longas?”)
Agnaldo Nicoleti
Muito brevemente todos, literalmente todos, os rios soterrados irão retomar seu lugar. Com as irreversíveis mudanças climáticas que já estamos vivenciando, essa retomada pelos rios de seus espaços originais também será irreversível (“São Paulo, a cidade que enterrou os rios”).
Mauricio Avanzi
Sua opinião é bem-vinda. As mensagens poderão ser resumidas por motivo de espaço e clareza.
CONTATOS
revistapesquisa.fapesp.br
redacao@fapesp.br
PesquisaFapesp pesquisa_fapesp @pesquisa_fapesp PesquisaFapesp pesquisafapesp cartas@fapesp.br
R. Joaquim Antunes, 727 10º andar
CEP 05415-012
São Paulo, SP
Sua pesquisa rende fotos bonitas? Mande para imagempesquisa@fapesp.br Seu trabalho poderá ser publicado na revista.
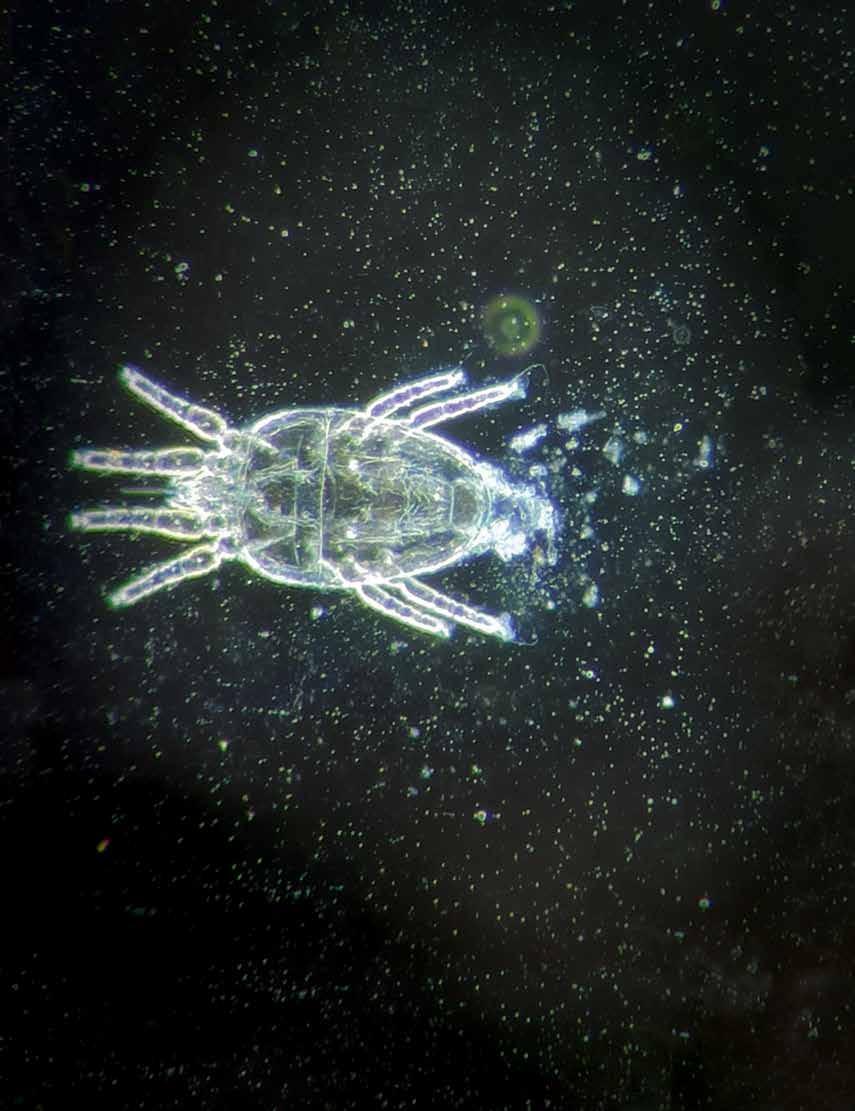
O ácaro Brevipalpus yothersi, visto ao microscópio, é uma estrela às avessas na citricultura: é hospedeiro e transmissor do vírus Cilevirus leprosis, causador da leprose dos citros. Saber quais plantas ele habita é essencial para garantir o manejo preventivo do pomar. Os pesquisadores identificam a espécie do invertebrado examinando o sistema reprodutivo ao microscópio e a do vírus presente nele por meio de análises moleculares.
Imagem enviada pelo biólogo Augusto Hiller Ferrari, estudante de iniciação científica no Centro de Citricultura Sylvio Moreira


Mais de 15 mil documentos históricos e 39 mil registros de projetos de pesquisa no acervo em construção
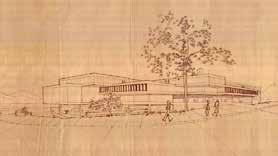
Entrevistas exclusivas com pesquisadores


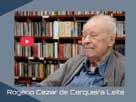
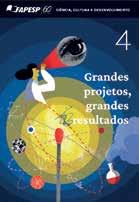

Reportagens, fotos e vídeos da revista Pesquisa e da Agência FAPESP E muito mais!