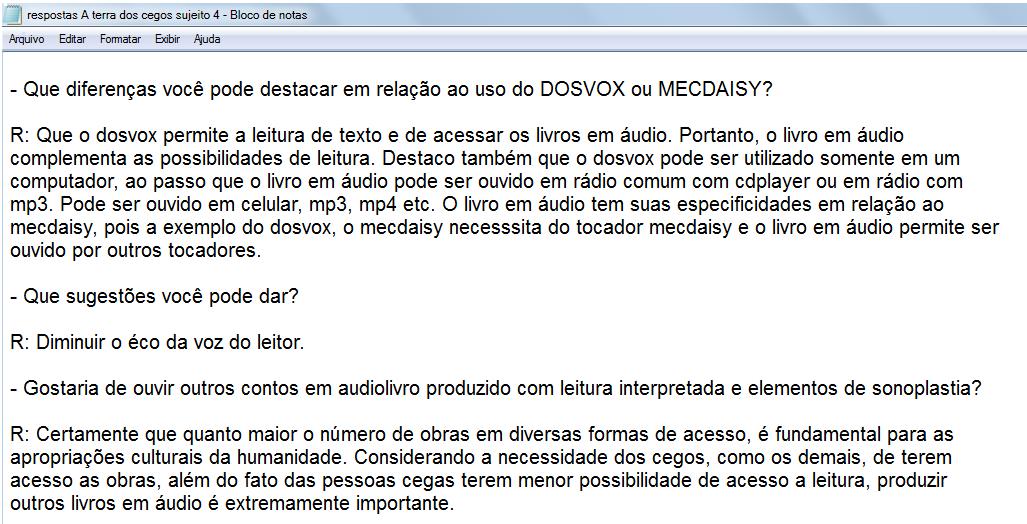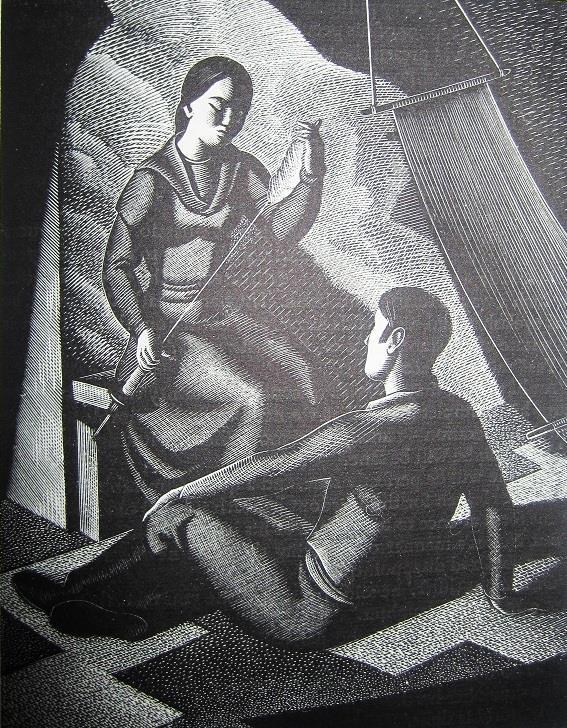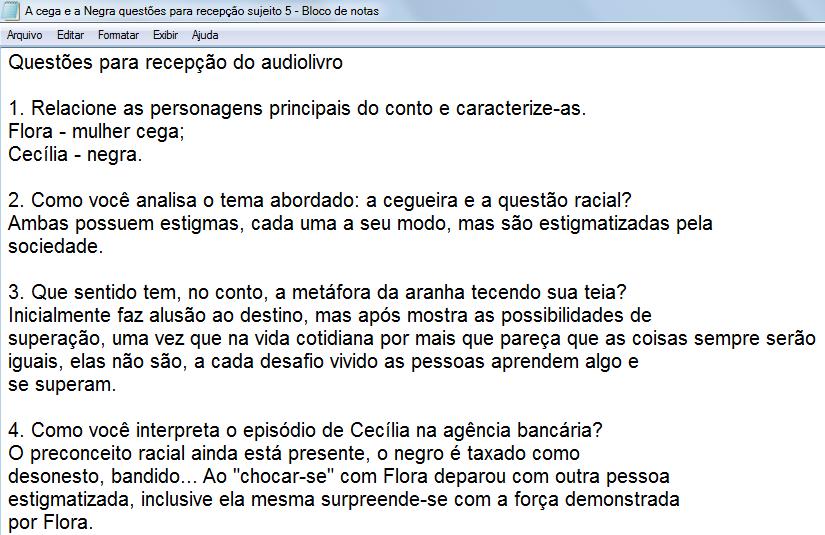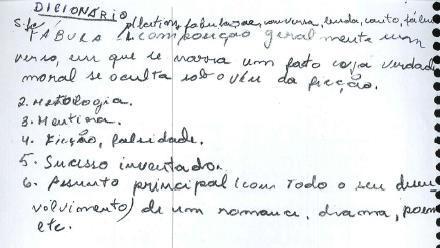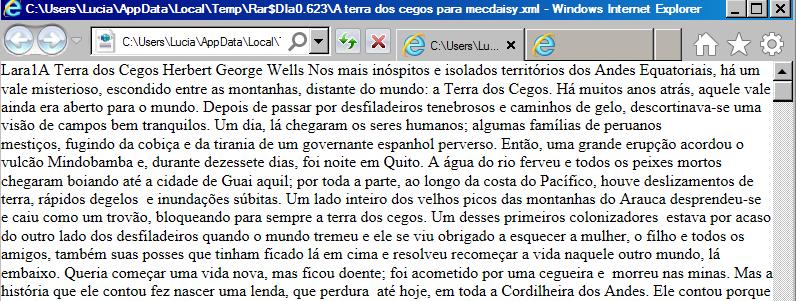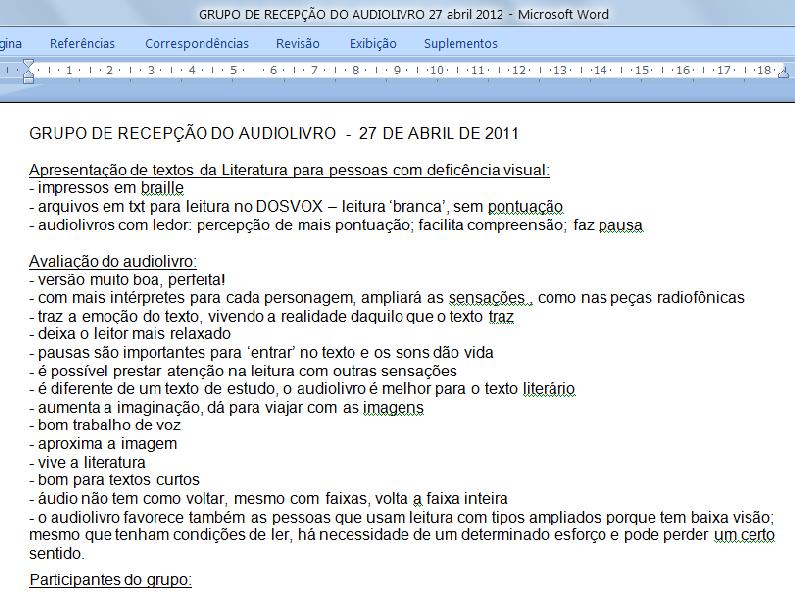maior, um silêncio, pode não ser simplesmente uma falha ou uma demora na continuidade da peça, mas algo deliberado, com determinada significação, que pode destacar a continuidade sonora ou mesmo apresentar um momento de expectativa para o ouvinte. Por meio dessas pausas, muitas vezes, o ouvinte é convidado a acompanhar a narrativa que ouve, dando-lhe tempo para ir completando mentalmente os enunciados sonoros que se seguirão. Similarmente, os ruídos podem não ser barulhos indesejáveis e inoportunos, mas atuar como efeitos sonoros; tornam-se então “ruídos desejáveis”, na expressão de Silva (1999, p. 75), alcançando o status de efeitos sonoros, que objetivam compor uma cenografia acústica. Toda uma sugestão de imagens auditivas se coloca para o ouvinte, de modo que “o ruído fornece informações, pistas, atua como índice do objeto representado a fim de que o ouvinte reconheça e estabeleça associações, que, pelo caráter referencial assumido pelo ruído, dá-se por contiguidade” (SILVA, 1999, p. 75-76). Constroem-se, assim, as imagens sonoras decorrentes do processo perceptivo entre as impressões do ouvinte e as representações sensoriais que ele capta pela audição. Compondo a chamada trilha sonora, a música, em si também uma linguagem carregada de valores simbólicos, serve para apoiar esse texto radiofônico, “além de incrementar os efeitos que resultam da palavra ou do ruído na conformação desta imagem sonora” (SILVA, 1999, p. 78). Sua utilização cumpre a função de separar cenas ou partes de um conjunto expressivo por meio de molduras ou cortinas sonoras; ou ainda serve para ambientar emocionalmente um texto, pela criação de determinada atmosfera sonora. As reflexões de Zumthor (1985), sobre o poder da ambientação sonora, assim se expressam: “há em muitos de nós como que uma nostalgia, e em outros, a vontade de redescobrir valores que pensavam perdidos, desafiando o poder da palavra escrita, sempre dominante” (ZUMTHOR, 1985, p. 8). As sessões de poesias verbalizadas, os saraus literários, o rap, constituem inúmeras situações que demonstram um retorno à voz, pois “é indispensável que a voz viva experimente o desejo vital de retomar a palavra, para usar uma expressão cuja força deve ser plenamente restabelecida” (ZUMTHOR, 1985, p. 8). E tal movimento se coloca na contramão da valorização secular ocidental da palavra escrita, no qual outras artes também podem ser inseridas.
A tradução interartes e a convergência das mídias Os estudos de tradução são recentes, situam-se em torno dos anos 70 do século XX, e os estudiosos de então se preocupavam mais com os princípios linguísticos, com os procedimentos técnicos, do que em fazer uma articulação entre tradução e estudos literários. Dois movimentos ocorreram em relação aos estudos da tradução, que deram novas diretrizes a esse campo do saber: um movimento normativo e outro descritivo dos estudos tradutórios. Uma das preocupações de teóricos mais normativos, segundo Rodrigues (2000), como Nida e Catford, era a manutenção das características do que acreditavam serem os traços essenciais do original em sua tradução; ou seja, os normativos pensavam ser possível a equivalência de termos entre o texto-alvo e o texto de chegada. Para os adeptos da corrente normativa da tradução, o texto de partida era o texto original, enquanto a sua tradução seria um desdobramento do primeiro, sendo sempre inferior àquele. Nida fez uso da metáfora dos vagões de trem para visualizar o que seria o processo tradutório. Assim, as palavras de uma sentença seriam como uma fileira de vagões de carga, 25