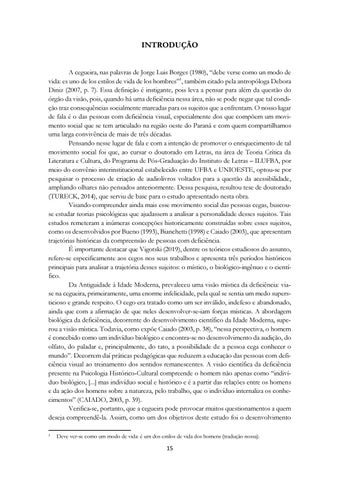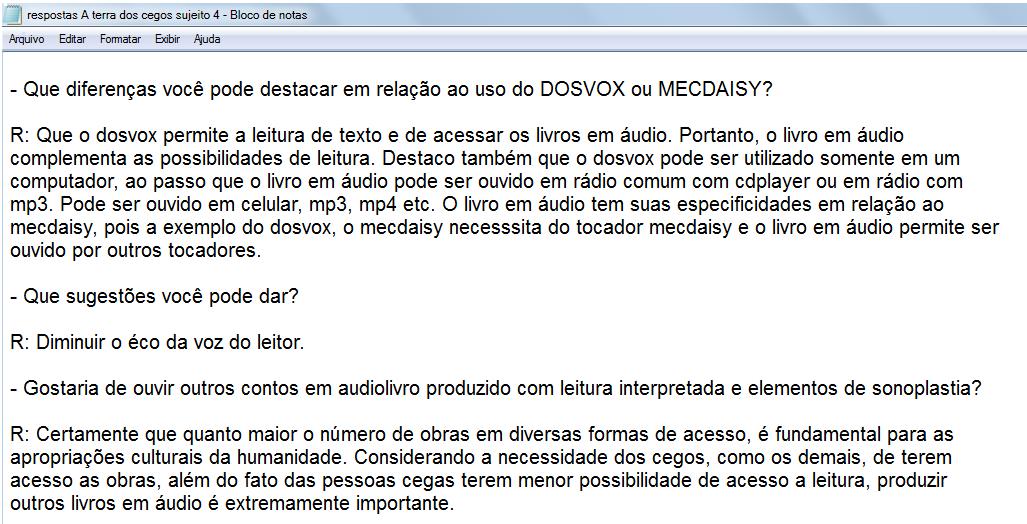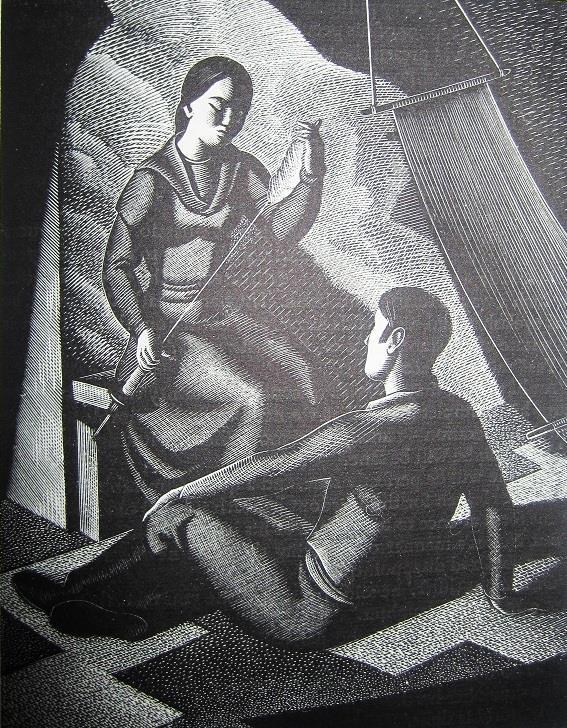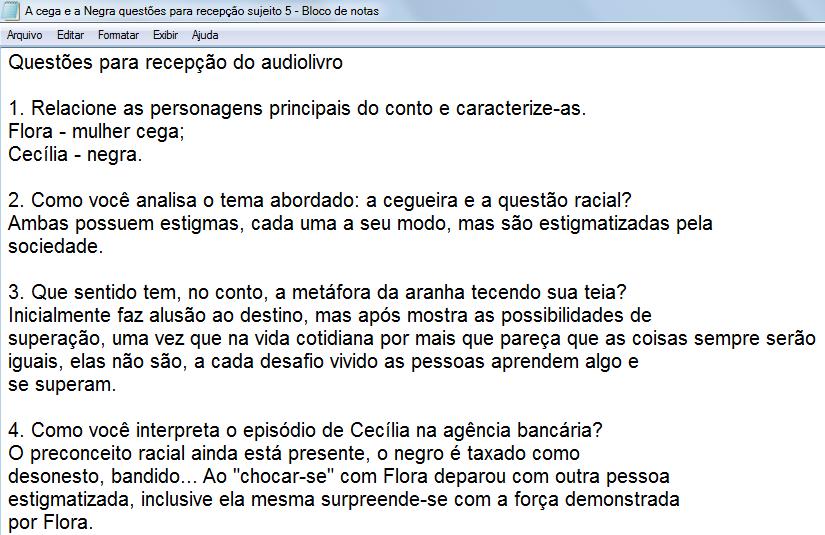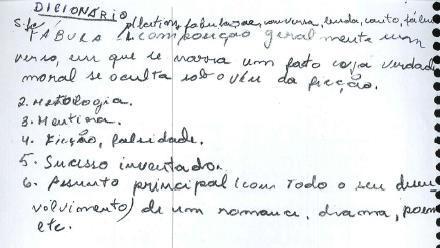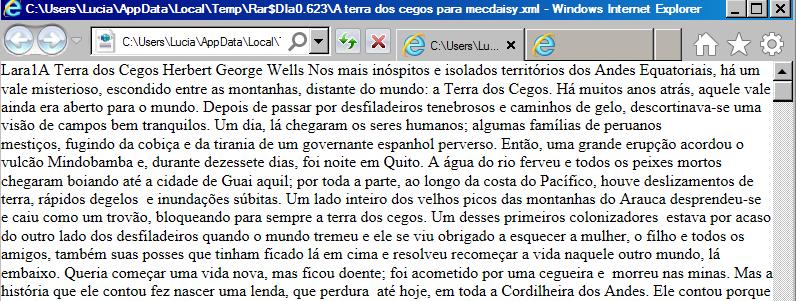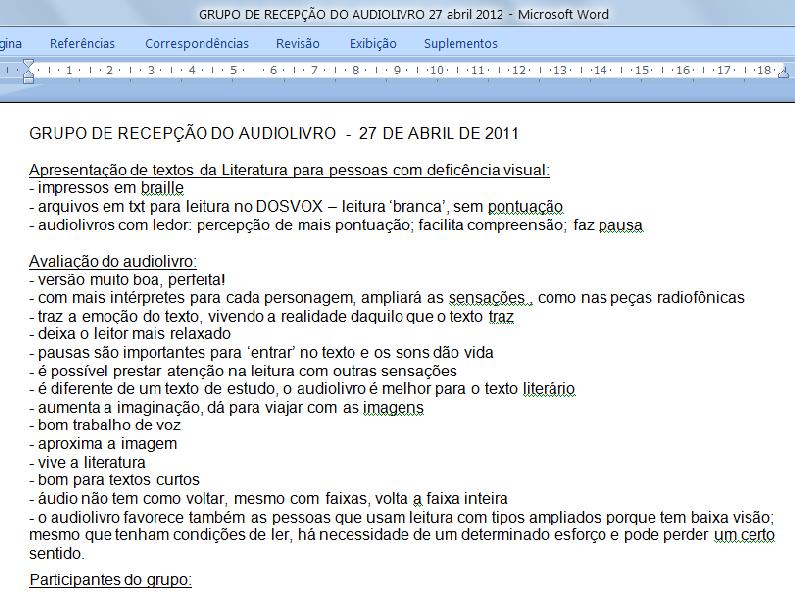INTRODUÇÃO A cegueira, nas palavras de Jorge Luis Borges (1980), “debe verse como un modo de vida: es uno de los estilos de vida de los hombres”1, também citado pela antropóloga Debora Diniz (2007, p. 7). Essa definição é instigante, pois leva a pensar para além da questão do órgão da visão, pois, quando há uma deficiência nessa área, não se pode negar que tal condição traz consequências socialmente marcadas para os sujeitos que a enfrentam. O nosso lugar de fala é o das pessoas com deficiência visual, especialmente dos que compõem um movimento social que se tem articulado na região oeste do Paraná e com quem compartilhamos uma larga convivência de mais de três décadas. Pensando nesse lugar de fala e com a intenção de promover o enriquecimento de tal movimento social foi que, ao cursar o doutorado em Letras, na área de Teoria Crítica da Literatura e Cultura, do Programa de Pós-Graduação do Instituto de Letras – ILUFBA, por meio do convênio interinstitucional estabelecido entre UFBA e UNIOESTE, optou-se por pesquisar o processo de criação de audiolivros voltados para a questão da acessibilidade, ampliando olhares não pensados anteriormente. Dessa pesquisa, resultou tese de doutorado (TURECK, 2014), que serviu de base para o estudo apresentado nesta obra. Visando compreender ainda mais esse movimento social das pessoas cegas, buscouse estudar teorias psicológicas que ajudassem a analisar a personalidade desses sujeitos. Tais estudos remeteram a inúmeras concepções historicamente construídas sobre esses sujeitos, como os desenvolvidos por Bueno (1993), Bianchetti (1998) e Caiado (2003), que apresentam trajetórias históricas da compreensão de pessoas com deficiência. É importante destacar que Vigotski (2019), dentre os teóricos estudiosos do assunto, refere-se especificamente aos cegos nos seus trabalhos e apresenta três períodos históricos principais para analisar a trajetória desses sujeitos: o místico, o biológico-ingênuo e o científico. Da Antiguidade à Idade Moderna, prevaleceu uma visão mística da deficiência: viase na cegueira, primeiramente, uma enorme infelicidade, pela qual se sentia um medo supersticioso e grande respeito. O cego era tratado como um ser inválido, indefeso e abandonado, ainda que com a afirmação de que neles desenvolver-se-iam forças místicas. A abordagem biológica da deficiência, decorrente do desenvolvimento científico da Idade Moderna, superou a visão mística. Todavia, como expõe Caiado (2003, p. 38), “nessa perspectiva, o homem é concebido como um indivíduo biológico e encontra-se no desenvolvimento da audição, do olfato, do paladar e, principalmente, do tato, a possibilidade de a pessoa cega conhecer o mundo”. Decorrem daí práticas pedagógicas que reduzem a educação das pessoas com deficiência visual ao treinamento dos sentidos remanescentes. A visão científica da deficiência presente na Psicologia Histórico-Cultural compreende o homem não apenas como “indivíduo biológico, [...] mas indivíduo social e histórico e é a partir das relações entre os homens e da ação dos homens sobre a natureza, pelo trabalho, que o indivíduo internaliza os conhecimentos” (CAIADO, 2003, p. 39). Verifica-se, portanto, que a cegueira pode provocar muitos questionamentos a quem deseja compreendê-la. Assim, como um dos objetivos deste estudo foi o desenvolvimento 1
Deve ver-se como um modo de vida: é um dos estilos de vida dos homens (tradução nossa).
15