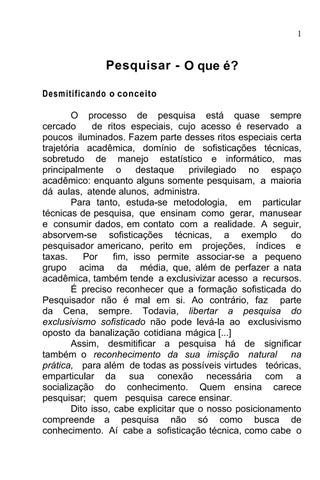Pesquisar - O que é?
Desmitificando o conceito
O processo de pesquisa está quase sempre cercado de ritos especiais, cujo acesso é reservado a poucos iluminados. Fazem parte desses ritos especiais certa trajetória acadêmica, domínio de sofisticações técnicas, sobretudo de manejo estatístico e informático, mas principalmente o destaque privilegiado no espaço acadêmico: enquanto alguns somente pesquisam, a maioria dá aulas, atende alunos, administra.
Para tanto, estuda-se metodologia, em particular técnicas de pesquisa, que ensinam como gerar, manusear e consumir dados, em contato com a realidade. A seguir, absorvem-se sofisticações técnicas, a exemplo do pesquisador americano, perito em projeções, índices e taxas. Por fim, isso permite associar-se a pequeno grupo acima da média, que, além de perfazer a nata acadêmica, também tende a exclusivizar acesso a recursos.
É preciso reconhecer que a formação sofisticada do Pesquisador não é mal em si. Ao contrário, faz parte da Cena, sempre. Todavia, libertar a pesquisa do exclusivismo sofisticado não pode levá-la ao exclusivismo oposto da banalização cotidiana mágica [...]
Assim, desmitificar a pesquisa há de significar também o reconhecimento da sua imisção natural na prática, para além de todas as possíveis virtudes teóricas, emparticular da sua conexão necessária com a socialização do conhecimento. Quem ensina carece pesquisar; quem pesquisa carece ensinar.
Dito isso, cabe explicitar que o nosso posicionamento compreende a pesquisa não só como busca de conhecimento. Aí cabe a sofisticação técnica, como cabe o
seu cultivo especificamente acadêmico, desde que não desvinculado do ensino e da prática. Mas deve caber ainda a sua cotidianização, a níveis críticos da consciência social, a domínio tecnológico diante do dado social e natural, a cultura própria. Em termos cotidianos, pesquisa não é ato isolado, intermitente, especial, mas atitude processual de investigação diante do desconhecido e dos limites que a natureza e a sociedade nos impõem. Faz parte de toda prática, para não ser ativista e fanática. Faz parte do processo de informação, como instrumento essencial para a emancipação. Não só para ter, sobretudo para ser, é mister saber.
O conhecimento gerado na academia é diferente do conhecimento comum, mas seria incompatível soberba não reconhecer neste também “saber”. O analfabeto “não sabe” frente a critérios do culto, mas em seu universo gera níveis próprios do saber, que por vezes não precisam ser menos críticos. Sem recair jamais no elogio da ignorância — até porque seria coisa de esperto — cabe reconhecer que conhecimento é processo diário, como a própria educação, que não começa nem acaba. Diante da nossa ignorância e dos nossos limites, há sempre o que conhecer, sobretudo conhecer faz parte do conceito de vida criativa. Para criar, em especial para se emancipar, é mister informação competente. Pesquisa é processo que deve aparecer em todo trajeto educativo, como princípio educativo que é, na base de qualquer proposta emancipatória. Se educar é sobretudo motivar a criatividade do próprio educando, para que surja o novo mestre, jamais o discípulo, a atitude de pesquisa é parte intrínseca. Pesquisar toma aí contornos muito próprios e desafiadores, a começar pelo reconhecimento de que o melhor saber é aquele que sabe superar-se. O caminho emancipatório não pode vir de fora, imposto ou doado, mas será conquista de dentro, construção própria, para o que é mister lançar mão de todos os
instrumentos de apoio: professor, material didático, equipamentos físicos, informação.
Desmitificar a pesquisa há de significar, então, a superação de condições atuais da reprodução do discípulo, comandadas por um professor que nunca ultrapassou a condição de aluno. O novo mestre não é apenas o magnata da ciência, o gênio incomparável, o metodólogo virtuoso, mas todo cidadão que souber manejar a sua emancipação, para não permanecer na condição de objeto das pressões alheias.
Por outra, criar não é retirar do nada. Embora seja sempre preferível a criação claramente inspirada e inovadora, na expectativa cotidiana não é possível fazer regra do extraordinário. Precisamos reconhecer, no realismo do dia-a-dia que marca e limita pessoas e sociedades, que criar já é o processo de digestão própria, peto menos a impressão de colorido pessoal em algo retirado de outrem. Mesmo porque, de modo geral, assim começa a criação: pela cópia retocada. Com o tempo, emergem condições mais profundas de inovação, que não caem do céu por descuido, mas são construídas na história de vida, em processo de infindável conquista.
Vale, então, rever o conceito de aprendizagem, relacionado ao de ensinar, sempre restritos os dois a posições receptivo-domesticadoras. O que conta aí é aprender a criar. Um dos instrumentos essenciais da criação é a pesquisa. Nisto está o seu valor também educativo, para além da descoberta científica.
Horizontes múltiplos da pesquisa
Compreendida como capacidade de elaboração própria, a pesquisa condensa-se numa multiplicidade de horizontes no contexto científico (Demo, 1985b). É comum prendê-la à sua construção empírica.O pesquisador aparece exclusivizado na condição de
manipulador competente de dados factuais. “Levantamento empírico” é seu conteúdo mais típico, geralmente único.
Mesmo quando colocamos o desafio correto de que a pesquisa é descoberta da realidade, trata-se de um conceito estreito de realidade, se a restringirmos à sua manifestação empírica. A tendência de reduzir à sua expressão empírica é facilmente compreensível, porque é a mais manipulável diante da expectativa metodológica dominante. E tanto mais tratável cientificamente, aquilo que é mensurável, experimentável, observável.
Para muitos pode parecer estranho rejeitar que seja real apenas o que se “vê”. Esta colocação tem grande significado, pois denota, desde logo, que não seria “realista” prender a realidade a um único parâmetro de pesquisa. Se soubéssemos com evidência inconteste o que é realidade, não seria mais necessária a ciência. Neste sentido, ciência vive do desafio imorredouro de descobrir realidade que, sempre de novo, ao mesmo tempo se descobre e se esconde. Possivelmente esta marca é comum também à realidade natural, mas é sobretudo característica da realidade social. “O que se vê”, de modo geral, não é, nem de longe, a parte principal e, na conseqüência, o que está nos dados muitas vezes é manifestação secundária, ocasional, superficial.
O pesquisador não somente é quem sabe acumular dados mensurados, mas sobretudo quem nunca desiste de questionar a realidade, sabendo que qualquer conhecimento é apenas recorte.
Assim, o mínimo que podemos dizer é que há horizontes não-empíricos, que fazem parte da realidade. E fundamental que a ciência os capte, principalmente é essencial que não reduza a realidade
ao tamanho do que consegue captar.
De partida, é mister ressaltar que ao lado da preocupação empírica deve haver preocupação teórica. “Pesquisa teórica” pode parecer algo estranho, mas, olhando bem as coisas, é indispensável, como formulação de quadros explicativos de referência, burilamento conceitual, domínio de alternativas explicativas na história da ciência, capacidade de criação discursiva e analítica.
De acordo com os quadros teóricos de referência, o real pode variar, inclusive apresentar-se contraditório. Para começar, todo dado empírico não fala por si, mas pela “boca” de uma teoria. Se fosse evidente em si, produziria a mesma análise sempre.
A realidade que se quer captar é a mesma para todos, mas para captar é preciso concepção teórica dela, que pode ser diferente em todos, dependendo do que se define por ciência, por método, ou do ponto de partida e do ponto de vista, ou da ideologia subjacente, ou de circunstâncias sociais condicionantes ou condicionadas por interesses históricos dominantes.
Se numa teoria nunca está inclusa a realidade toda, mas tão-somente a maneira de a conceber, muito menos seria pensável encerrar em manifestações empíricas. A realidade como tal não depende da interpretação para existir: existe com ou sem intérprete. Mas a realidade conhecida é inevitavelmente aquela interpretada. Caso contrário, seria ininteligível a disputa teórica entre quadros interpretativos diferentes e mesmo contraditórios. O dado é muito mais resultado teórico, do que achado, pois, para “achar”, é mister antes “decidir” o que achar e como achar (Kuhn, 1975).
Aí está a importância da teoria, que é a retaguarda criativa do intérprete inspirado. Domínio teórico significa a construção, via pesquisa, da
capacidade de relacionar alternativas explicativas, de conhecer seus vazios e virtudes, sua história, sua consistência, sua potencialidade, de especular chances possíveis de caminhos outros ainda não devassados. O bom teórico é sobretudo aquele que sabe bem perguntar, colocando a teoria no devido lugar: instrumentação criativa diante de realidade sempre furtiva. Quem dispõe de boa teoria, diante do dado sabe interpretar, ou pelo menos sabe propor pistas de interpretação possível.
Faz parte, assim, da pesquisa teórica:
conhecer a fundo quadros de referência alternativos, clássicos e modernos, ou os teóricos relevantes;
atualizar-se na polêmica teórica, sem modismos, para abastecer-se e desinstalar-se;
elaborar precisão conceitual, atribuindo significado estrito aos termos básicos de cada teoria;
aceitar o desafio criativo de prepor a realidade à fixação teórica, para que a prática não se reduza à “prática teórica”, e para que a teoria se mantenha em seu devido lugar, como instrumentação interpretativa e condição de criatividade;
investir na consciência crítica, que se alimenta de alternativas explicativas, do vaivém entre teoria e prática, dos limites de cada teoria.
A seguir, é importante ressaltar a preocupação metodológica. “Pesquisa metodológica” pode parecer algoainda mais estranho, porque predomina a expectativa de que método se aprende, não se cria. Sobretudo em estatística, a atitude típica é a de estar
diante de “ pacote” que temos de engolir.
Primeiro, é constatação comum que todo cientista criativo e produtivo marcou sua presença no mundo científico não só pela teoria e por vezes pela prática, mas também sempre pela discussão metodológica. Preocupa-se com método, porque é sinal de competência, no mínimo de bom nível. Teoria coloca a discussão sobre concepções de realidade. Método coloca a discussão sobre concepções de ciência. Método é instrumento, caminho, procedimento, e por isso nunca vem antes da concepção de realidade. Para se colocar como captar, é mister ter-se idéia do que captar.
Ainda, também é constatação comum que metodologia científica é uma das matérias mais estratégicas na formação acadêmica, sobretudo na direção da motivação à pesquisa. Todo projeto sério de pesquisa contém em algum momento discussão do método, pelo menos no sentido barato de fases a serem seguidas, possíveis resultados colimados, autores que se pretende ler, interpretar,rebater, superar. A despreocupação metodológica coincide com baixo nível acadêmico, pois passa ao largo da discussão sobre modos de explicar, substituindo-a por expectativas ingênuas de evidências prévias. Nada favorece mais o surgimento do discípulo “copiador” que a ignorância metodológica.
Terceiro, é preciso lembrar que a distinção entre ciência e outros saberes está no método, sobretudo. Enquanto estes são taxados de senso comum, postura acrítica, credulidade etc., por vezes sem razão, ciência é assumida como conhecimento metódico, cuidadoso, testado, e se possível verdadeiro. Assim, é a metodologia que coloca mais propriamente a pretensão científica e seu domínio define na prática quem é ou não cientista.
Nesse sentido, pesquisa metodológica é um dos horizontes estratégicos da pesquisa como tal, que não se restringe a “decorar” estatística com seus testes áridos, mas alcança a capacidade de discutir criativamente caminhos alternativos para a ciência e mesmo de criá-los.
Alguns tópicos da pesquisa metodológica poderiam ser:
discussão crítica das metodologias em uso: dialéticas, positivismos, estruturalismos, empirismos, sistemismos;
propostas de metodologias alternativas: pesquisa participante, avaliação qualitativa;
capacidade de aferir de uma teoria a concepção científica subjacente, garimpando nas linhas e nas entrelinhas a postura metodológica;
formação crítica e emancipatória de espaço científico próprio;discussão do lugar da ciência na sociedade, que, como técnica, tem sido tática de lucro e opressão (Luedke & André, 1986; Haguette, 1987; Demo, 1987).
Por fim, outro horizonte da pesquisa é a prática. Teoria e prática detêm a mesma relevância científica e constituem no fundo um todo só. Uma não substitui a outra e cada qual tem sua lógica própria. Não se pode realizar prática criativa sem retomo constante à teoria, bem como não se pode fecundar a teoria sem confronto com a prática.
A distância para com a prática é compreensível, sobretudo pelo temor do confronto, que condiciona mudanças na teoria. Na prática, a teoria é outra, e vice-versa. Por isso, o que mais fomenta instabilidade
teórica e obriga a buscar alternativas é o confronto prático.
A pesquisa prática — que nunca pode ser bemfeita sem teoria, método e empiria — é modo salutar de produção de conhecimento, que possui ainda a vantagem de puxar para o cotidiano a ciência. Pode resvalar facilmente para o senso comum, mas pode adquirir tonalidades muito criativas da sabedoria e do bom senso. Pesquisa prática não significa apenas a noção de aplicabilidade concreta, porque seria irônica uma teoria nãoaplicável, mas sobretudo a prática como parte integrante do processo científico como tal.
Pesquisa prática quer dizer “olhos abertos” para a realidade, tomando-a como mestra de nossas concepções. Quem é inteligente sempre aprende, porque está em atitude de pesquisa. Naturalmente muda de posição, no dinamismo natural de uma realidade variável e surpreendente. Ao contrário da tendência teórica típica que “ensaca” a realidade na teoria, pesquisa prática busca o movimento contrário: colocar realidade na teoria, obrigando a teoria a se adequar e nisto a se rever, mudar e mesmo se superar.
A pesquisa como princípio científico
Cremos que visão alternativa de pesquisa seria fermento apto a recolocar a universidade no caminho das esperanças sociais nela depositadas, o que exige criatividade, intenso diálogo com a realidade, disciplina e compromisso histórico produtivo. O mínimo que se exige de instituição que se quer inventiva e alternativa é que saiba apresentar e realizar propostas coerentes, no que tem falhado absurdamente. Nossa atenção estará voltada para a pesquisa como princípio científico, sem unilateralizar a visão formal da pesquisa.
Aula, professor e aluno na universidade
É mister, pois, discutir o que é aula. Aula é momento de preleção discursiva, que tem seu lugar adequado, mas que jamais pode ser expediente didático predominante, muito menos exclusivo. O protótipo da aula é a conferência, na qual um professor na base da sua competência respeitável expõe seus resultados e pontos de vista, sendo correspon dido no outro lado por uma platéia interessada. Esse interesse pode conjunturalmente restringir-se à situação de querer apenas escutar, ver a figura do professor, sentir a sua tendência. É claro que vale a pena escutar um bom professor, porque já não se trata de ser obrigado a ouvir um repassador barato de conhecimentos alheios, mas de ter a ocasião de ver o que um criador de ciência continua a criar.
Disso se depreende que é total disparate resumir o ensino à aula, porque corresponde a reduzir a
aprendizagem ao escutar passivamente. Dito de outra maneira, a função da aula é sobretudo a motivação da pesquisa, no sentido de chamar a atenção para a riqueza da discussão, para caminhos alternativos de tratamento do tema, para apresentar a maneira própria do professor de compreender a questão. Em seguida vem o principal: motivar o aluno a pesquisar, no sentido de fazer o seu próprio questionamento, para poder chegar à elaboração própria.
Essa posição é muitas vezes confundida com seminário, entendido como mesa-redonda, na qual todos discutem juntos. Certamente já temos aí um avanço notável, até para retirar a monotonia de aulas discursivas e repetitivas. Todavia, ainda não saímos da propedêutica ou da ante-sala da ciência. Para entrar na sala, mister se faz elaborar ciência. Se isso não acontecer, a idéia de pesquisa está apenas esboçada, mas não efetivada.
Para motivarmos o elaborador científico, pelo menos a nível teórico, são necessárias condições didáticas, tais como:
indução do contato pessoal do aluno com as teorias, através da leitura, levando a interpretação própria;
manuseio de produtos científicos e teorias, em biblioteca adequada e banco de dados;
transmissão de alguns ritos formais do trabalho científico (como citar; como estruturar o corpo, com começo, meio e fim; como ordenar dados);
destaque da preocupação metodológica, no sentido de enfrentar ciência em seus vários caminhos de realização histórica e epistemológica, induzindo a que o aluno formule posição própria fundamentada;
a partir disso, cobrança de elaboração própria, de início um tanto reprodutiva, mera síntese, mas que, aos poucos, se torna capacidade de criar.
No fim das contas, o aluno não pode apenas escutar; tem que produzir, o que exigege investir em tal competência. Ir às aulas é expediente apenas instrumental, no fundo sempre secundário, que não substitui nunca o tempo investido em produzir. Aqui está um disparate monumental, quando a vida acadêmica se restringe à aula.
Em certos lugares, a elaboração aparece, em momentos, como desafio de fazer em casa algum trabalho que exige reflexão e leitura, como trabalho de grupo seguido de alguma elaboração, e sobretudo como trabalho de fim de curso. Tudo isso já é importante demais, mas a pesquisa continua aparecendo conjunturalmente, enquanto deveria ser a própria es trutura curricular. O aluno leva para a vida não o que decora, mas o que cria por si mesmo. Somente isto tem condições de fazer parte da atitude do aluno, enquanto que o resto se engole como pacote e se expele como estranho.
É preciso insistir que tal postura redefine a função do professor e a função do aluno. O professor é sobretudo motivador, alguém a serviço da emancipação do aluno, nunca é a medida do que o aluno deve estudar. O aluno é a nova geração do professor, o futuro mestre, não o lacaio que precisa de cabresto. Em vez do pacote didático e curricular como medida do ensino e da aprendizagem, é preciso criar condições de criatividade, via pesquisa, para construir soluções, principalmente diante de problemas novos. A única coisa que vale a pena aprender é a criar, o que já muda a noção de aprender.
Parece claro que a “aula” vai perdendo importância,
à medida que surge o cientista autônomo, o novo mestre, que aprende por elaboração própria, não por imitação. É imaginável uma faculdade de educação, na qual a atividade discente principal seja a própria elaboração de trabalhos científicos, de acordo com cada matéria curricular, inclusive com margem de escolha. Teríamos “liberdade acadêmica”, que, se bem entendida, pode ser expressão da torça emancipatória da pesquisa.
“Dar conta de um tema”
O trabalho pessoal de pesquisa encontra expressão própria no desafio de assumir um tema para elaborar e defender, ainda que possa restringir-se à produção teórica. O título de professor é reservado quase sempre para quem, através do tirocínio acerbo de elaboração própria, obtém reconhecimento acadêmico de mérito pessoal como produtor de ciência. Antes de ser professor, pode ser monitor, assistente, docente, leitor, em cujo trajeto vai forjando espaço próprio de produção. A pósgraduação faz desafio específico à criatividade de elaboração própria, sobretudo no doutorado.
Embora a pesquisa seja conquista lenta e progressiva, começa no primeiro semestre. É normal que os alunos se sintam perdidos, diante do desafio de liberdade acadêmica, que não se coaduna com prenhes de receitas prontas que substituem o esforço do aluno. Este pode insistir, na sua imaturidade, na ajuda cômoda, que demarca quantas páginas precisa ler, ou as troca pelo fichamento, ou se contenta com anotações de aula. A verdadeira aprendizagem é aquela construída com esforço próprio através de elaboração pessoal. Para tanto, o caminho é a biblioteca, onde é preciso munir-se de leitura farta, para dominar posturas explicativas, entre elas escolher a mais aceitável e a partir desta elaborar uma própria, mesmo que seja síntese. O segundo passo
é iniciar a elaborar, devagar e sempre, fazendo tentativas aproximativas, até sentir-se mais ou menos seguro de que é capaz de dar conta de um tema.
O professor tem seu lugar, como pesquisador e orientador, para motivar no aluno o surgimento do novo mestre. Faz parte do conceito de criatividade, “saber se virar”, inventar saídas, sobretudo “aprender a aprender”, e isto é profundamente pesquisa. A postura de mero ensino e de mera aprendizagem é mais cômoda, menos problemática, evita o confronto produtivo entre mestre maduro e mestre em gestação. Todavia, predomina aí o lado da “imbecilização” útil, enquanto na relação de pesquisa científica e educativa pode predominar o lastro da emancipação.
“Dar conta de um tema” significa, pois, retomar o contexto do trabalho científico, geralmente apresentado como caminho de comprovação de hipóteses. Primeiro, concebe-se o que se quer mostrar, aonde se quer chegar, no sentido de uma proposta de construção científica. Tem a marca de uma suspeita explicativa, de uma rota pressentida, de um possível achado acadêmico. Em seguida, parte-se para “verificar”, “comprovar” tal suspeita, a que damos o nome de hipótese. Tanto é possível chegar a resultado positivo, como negativo (“verificar” ou “não verificar”), significando cada um igual interesse para a ciência.
Para “dar conta de um tema”, são passos relevantes:
primeiro, é mister ter um “tema”, ou seja, um problema interessante a ser estudado, fenômeno pertinente que se deseja analisar, fato novo que se pretende compreender;
segundo, projeta-se um caminho, com etapas, para a realização do estudo, o que denota sentido de sistema tização e disciplina de trabalho;
o momento inicial é geralmente marcado pela dúvida, pois somente pesquisa quem não sabe tudo e convive criticamente com os limites do conhecimento;
aí, pergunta-se pelo que já se sabe do tema, para buscar alguma pista; chegando-se a uma pista preliminar, segue- se em frente, para averiguar se tem futuro; pode-se descobrir que é vital 'avançar, como também que o rumo está equivocado;
chega-se a uma primeira visão geral do tema, que delineie o “tamanho” do esforço que temos de investir e diante do qual medimos o “tamanho” de nossas per nas; diante de circunstâncias limitantes, como tempo dis ponível, recursos, instrumentos empíricos, é possível assumir o tema em maior ou menor profundidade;
importante será sempre “o que ler”, com vistas a for mular o “quadro de referência”, no qual vamos apresen tar nossa proposta explicativa da realidade; é preciso justificar as relevâncias realçadas, o tipo de ponto de vista e de partida, a preferência teórica, sempre em termos de elaboração própria;
importante é a questão metodológica, que coloca o desafio do como proceder: nas linhas, desenha os passos da análise (bibliografia básica, dados a serem utilizados ou produzidos, modode interpretação, preferência de posicionamento científico, fases da empreitada), surge o momento de construir por escrito, com seus ritos formais (introdução, corpo, conclusão; citações; estruturação lógica da argumentação; disposição dos dados, com possíveis anexos), mas sobretudo com conteúdo adequado, demonstrado na capacidade de realização da hipótese, tão bem argumentada, que já nisto seja criativa;
“dar conta de um tema” não pode induzir a ingenuidade de que se achou a última palavra, nem que se inventou originalidade insuperável; quer dizer que o tratamento do tema é bem fundamentado, cercado de todos os lados viáveis, elaborado com engenho e arte, garantindo que aí aconteceu algum avanço científico.
Assim, não cabem nesse desafio leituras pela metade, cópias pirateadas de autores, número prévio de páginas, mera reprodução de dados. Significa que a orientação básica é “fazer o que o tema exige em sua complexidade”, não o que um instrutor predetermina como limitação a priori. É o aluno que deve saber descobrir o que ler, quanto ler, como ler, para formar o seu próprio juízo. Sobretudo, deve saber justificar quando e por que julga “ter dado conta do tema”, sem empáfias exaustivas.
Aqui temos um parâmetro de avaliação do novo mestre, por mais que a nossa realidade mostre o contrário: o estudante conclui o curso sem saber dar conta de um tema, não consegue escrever com clareza e sistematização, não ordena, manuseia, constrói e interpreta dados, o que revela continuar ainda apenas “aluno”, até porque aprendeu com um “professor” que nunca saiu da condição de “aluno”.
Enfim, ressalte-se que o “trabalho de elaboração individual”, embora imprescindível, pode levar ao isolamento ensimesmado do cientista. “Trabalho de grupo” é muito recomendável, também por motivos educativos, como estratégia criativa na fase de pesquisa prévia, de discussão conjunta para indigitar caminhos possíveis, de confronto criativo de idéias diferentes e divergentes. Mas não é útil a “elaboração de grupo”, porque tende a sacrificar a quem de fato elabora, pois não é viável escrever a muitas mãos.