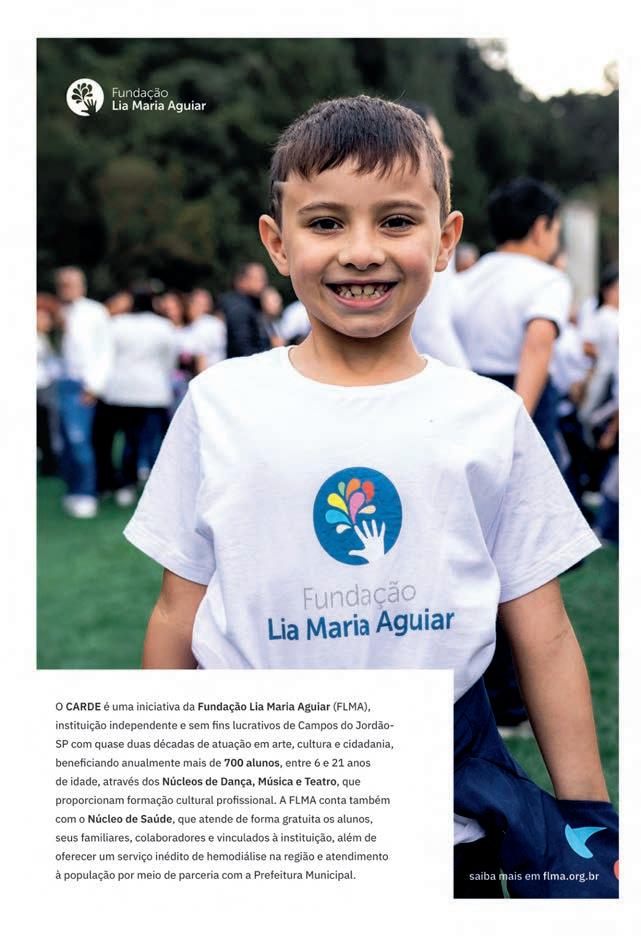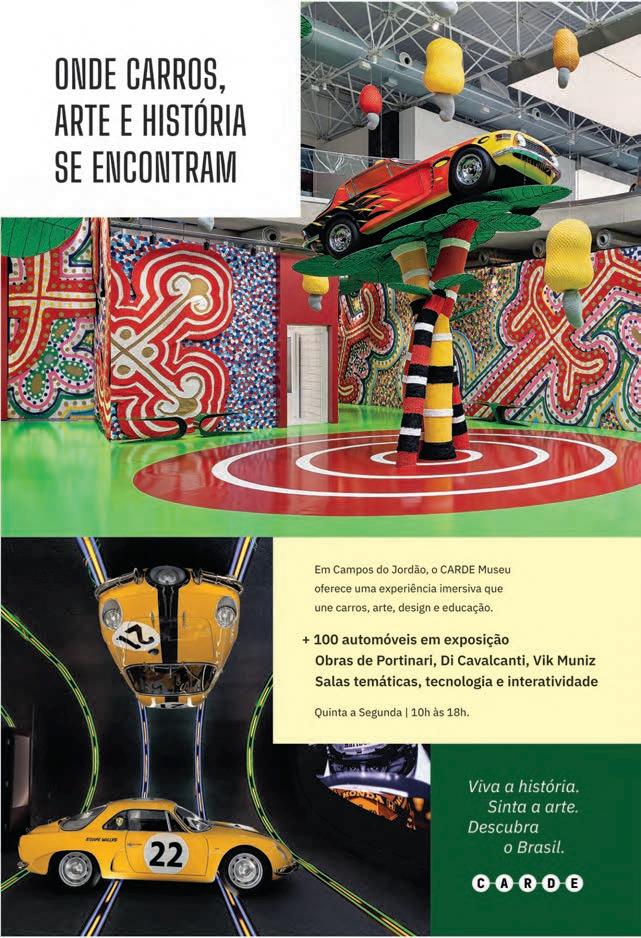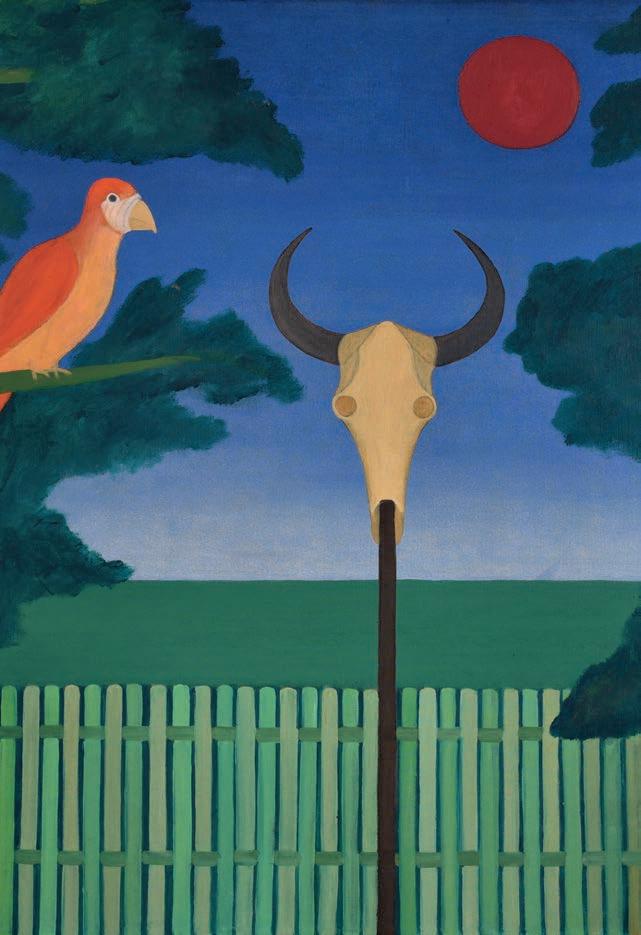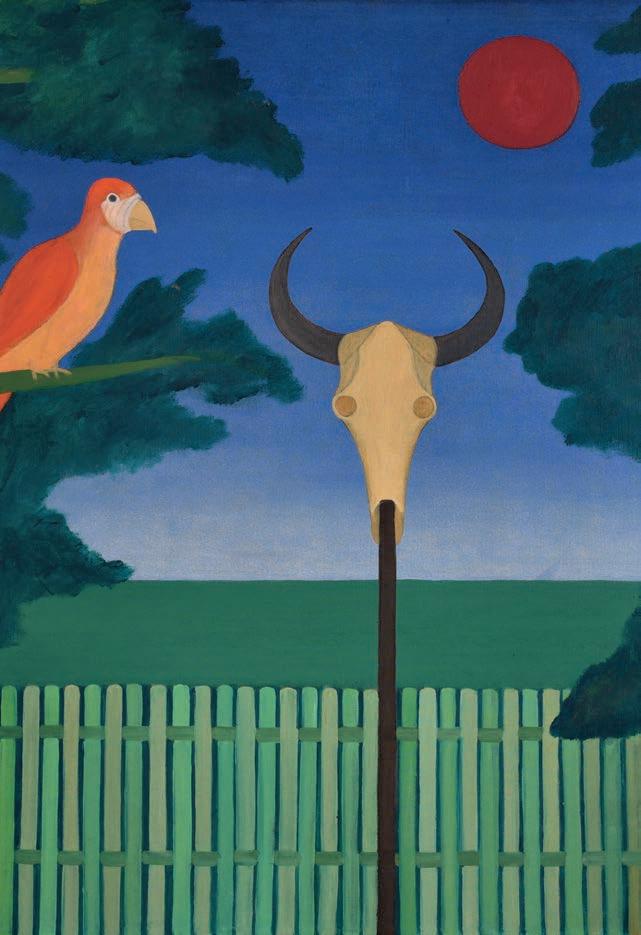
Setembro 2025 | www carde.org
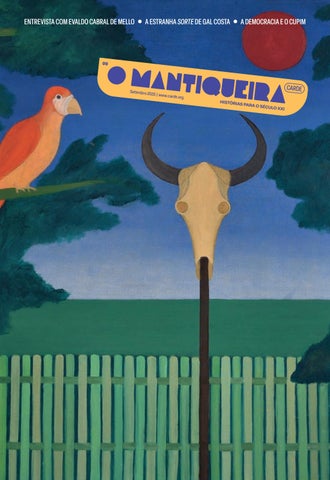

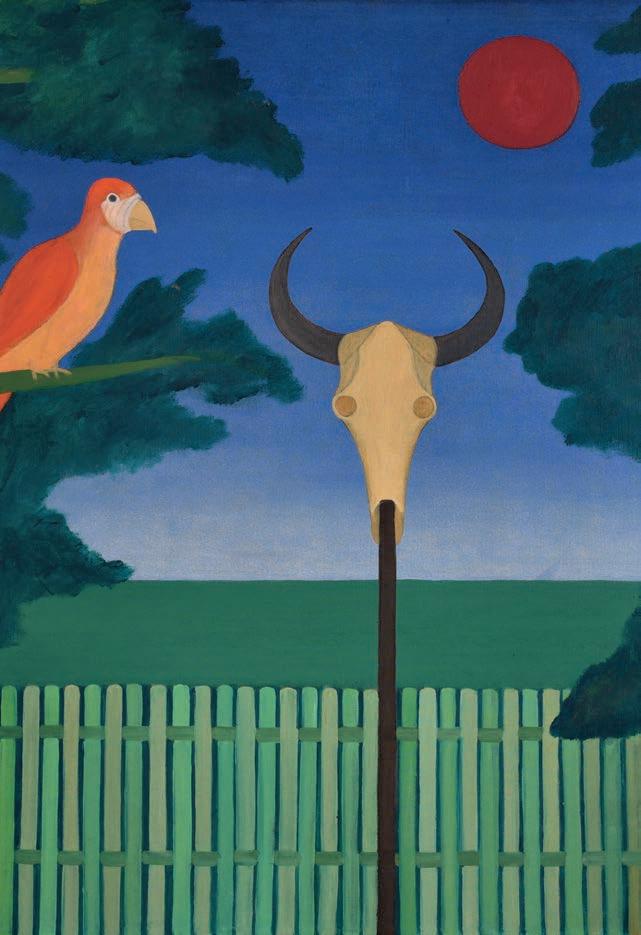
Setembro 2025 | www carde.org
Fundação
Lia Maria Aguiar
Presidente
Lia Maria Aguiar
Conselheiro e Membro
Honorário
Luiz Goshima
Diretora
Vanessa Costa
carde Museu –
Carro, Arte,
Design e Educação
Diretor
Luiz Goshima
Gerente
Pamela Alves
Produção cultural
Aline Monte Sião
Produção de eventos
Jackson Tinoco
Conselho editorial
O Mantiqueira
Editor Schneider
Carpeggiani
Editor-assistente
Igor Gomes
Design | Projeto gráfico & Diagramação
Arthur Starling e Hana Luzia
Revisão
José Bruno Marinho
Produção gráfica
Diogo Droschi
Marketing e redes sociais
Aline Monte Sião e Jackson Tinoco
Luiz Goshima, Vanessa Costa, Heloisa Murgel Starling, Alexandre Milla, Aline Monte Sião, Jackson Tinoco, João Pedro Gazineu, Pamela Alves, Pedro Carneiro, Ricardo Oliveira, Wagner Rosa, Gringo Cardia, Livia de Sá Baião, Rejane Dias dos Santos, Jef fis Carvalho, Danilo Araújo Marques e Nayara Henriques
Arte da capa
Djanira da Motta e Silva Paisagem do Sítio de Paraty (1965) 130 x 195 cm Acrílica sobre tela Acervo museu carde | ©️ Instituto Pintora Djanira
O Mantiqueira Carde é publicado três vezes ao ano Suplemento do museu carde, que une carro, arte, design e educação Impresso e publicado pelo Grupo Autêntica, em papel pólen bold 90 gramas na capa e pólen soft 70 gramas no miolo Composto nas fontes Itacolomi [Eller Type] Elza [Blackletra] e Mantiqueira [Arthur Starling & Hana Luzia]
Rua Benedito Olímpio Miranda 280 Alto da Boa V sta Campos do Jordão - SP
CEP: 12472-610 Tel : 12 3512-3547 contato@carde org

omantiqueira@carde.org www carde org
O carde nasceu museu, mas logo percebemos que sua missão ultrapassava paredes e coleções Essa ambição dialoga com o compromisso social que move a Fundação Lia Maria Aguiar em todas as suas frentes: oferecer acesso onde antes havia ausência
Ao lançar um novo olhar sobre a história brasileira por meio do design, da arte e do automóvel, o carde consolidou-se como plataforma de reflexão e difusão de ideias. É desse propósito que nasce O Mantiqueira.
Concebido em parceria com o Projeto República, da UFMG, coordenado pela historiadora Heloisa Starling, este suplemento cultural inaugura um novo espaço de pensamento. Seu nome evoca a serra, mas sua ambição percorre o país inteiro, porque Mantiqueira é mais que lugar, é linguagem, modo de vida, visão de mundo
A montanha torna-se lente, e, a partir dela, lançamos um olhar atento sobre o Brasil contemporâneo. Como o caipira que mede o tempo pelo ciclo da terra e pelo ritmo da água, propomos outra forma de ver, refletir e narrar
O Mantiqueira também é uma aposta no jornalismo como meio de disseminar histórias que articulam uma visão crítica do tempo presente.
A visão se articula a partir da máxima de Evaldo Cabral de Mello, maior historiador vivo do país: “A história manda recado”. Esse é o tom da entrevista concedida por ele nesta edição; do ensaio de Silviano Santiago, vencedor do Prêmio Camões em 2022; e do artigo A força de Hitler, escrito em 1924 pelo filósofo Ernst Bloch, que alerta o presente para os riscos da ascensão do nazismo.
A natureza é plataforma de pensamento e sentimento em duas crônicas Nelas, a Mantiqueira impõe-se como espaço vital para as águas no Brasil e como paisagem de emoções intensas. Os caminhos da ativista, artista e antropóloga Glicéria Tupinambá, no Perfil desta edição, contam uma conexão com a terra e com o sonho
A agressão à natureza como face de uma cultura violenta é um dos argumentos da HQ do quadrinista Gidalti Jr A leitura de imagens também estrutura a coluna da historiadora e antropóloga Lilia Schwarcz, que apresenta o pintor Heitor dos Prazeres com base em telas presentes no carde.
Um ensaio e dois artigos discutem assuntos presentes no noticiário O primeiro, do cientista político Miguel Lago, investiga como a democracia vem sendo usada contra si mesma. As bets são assunto de um artigo que investiga sua presença na música brasileira; outro artigo comenta os ataques da gestão Trump a museus e defende a necessidade de disputá-los como espaços de construção de memória
A partir de viagens pela Via Anchieta, estrada em que se confundem o fogo das refinarias e as chamas da lembrança, o jornalista Jeffis Carvalho mostra a força cultural do carro no país.
São as histórias desta edição de O Mantiqueira Histórias que articulam visão crítica do tempo presente; portanto, histórias para o século XXI
Este é o número zero, um ensaio inaugural e um compromisso. Que cada leitor possa se reconhecer nesse horizonte da serra, um chamado à pausa e à reflexão
Luiz Goshima
Diretor do carde, Conselheiro e Membro Honorário da Fundação Lia Maria Aguiar
Colunistas Lilia Schwarcz historiadora e antropóloga, autora de O espetáculo das raças
Jef fis Carvalho jornalista, roteirista e editor de cinema do Estado da Ar te (Estadão)
Colaboradores Danilo Araujo Marques historiador, autor de No fio da navalha Ernst Bloch (1885-1977) filósofo, autor de O princípio esperança GG Albuquerque jornalista e pesquisador, codiretor de Terror Mandelão Gidalti Jr. quadrinista, autor de Castanha do Pará Leonardo Nascimento jornalista e antropólogo Leonardo Piana escritor, autor de Tarde no planeta Livia Baião diretora do museu vir tual Rio Memórias Miguel Lago cientista político e diretor-executivo do IEPS Renato Contente jornalista e pesquisador, autor de Não se assuste, pessoa! Silviano Santiago crítico literário, escritor e ensaísta, autor de Em liberdade Stephanie Borges poeta e tradutora, autora de Talvez precisemos de um nome para isso Wagner Rosa diretor de criação, editor e historiador
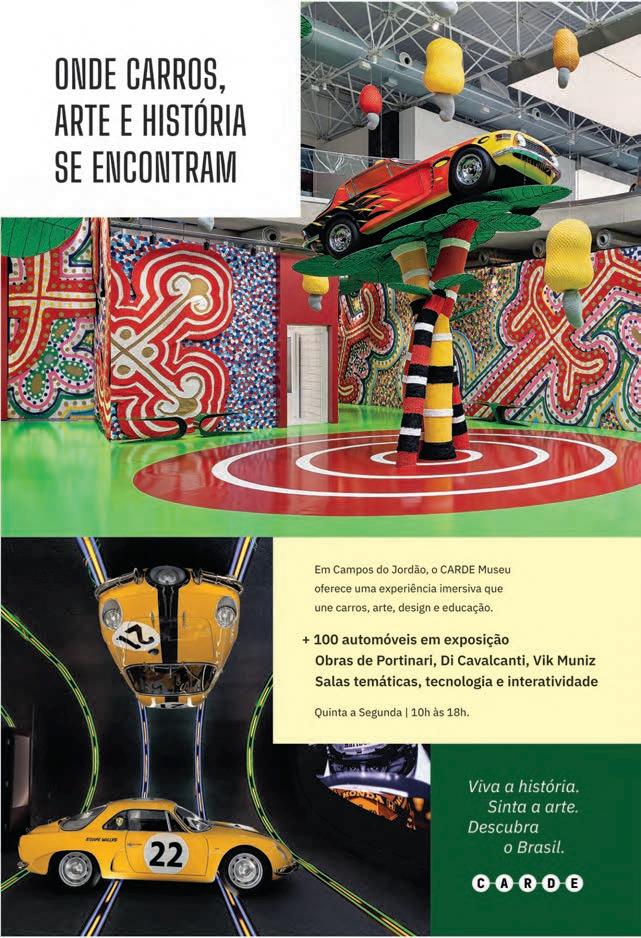
A cultura brasileira é impensável sem a palavra “suplemento”, dos cadernos culturais de fim de semana nos jornalões, passando pelas publicações das Imprensas Oficiais, até os mais vanguardistas experimentos tipográficos. O suplemento
O Mantiqueira CARDE surge agora para escrever mais um capítulo dessa tradição.
E o Grupo Editorial Autêntica se une a essa iniciativa para contar as histórias do século XXI.
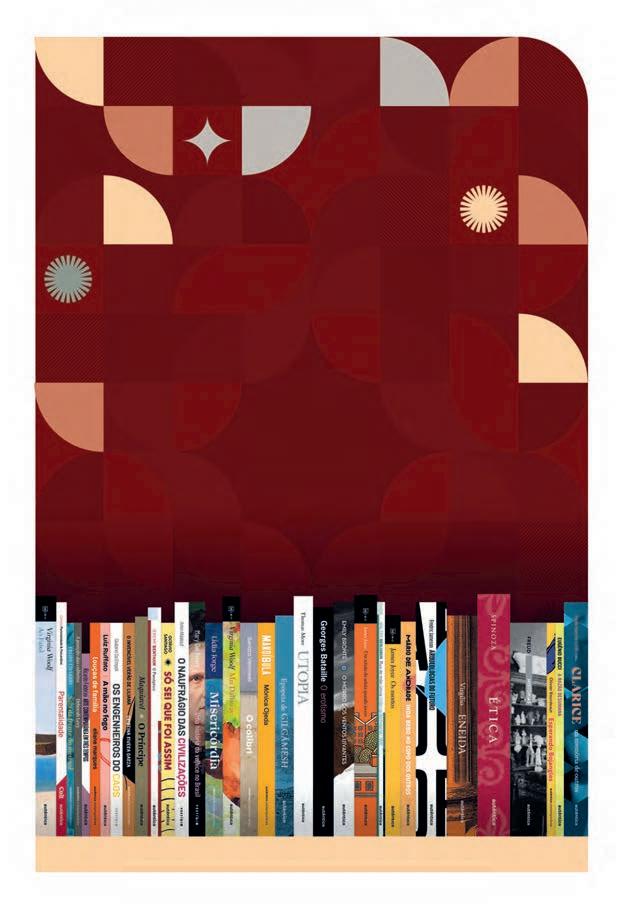
www.grupoautentica.com.br
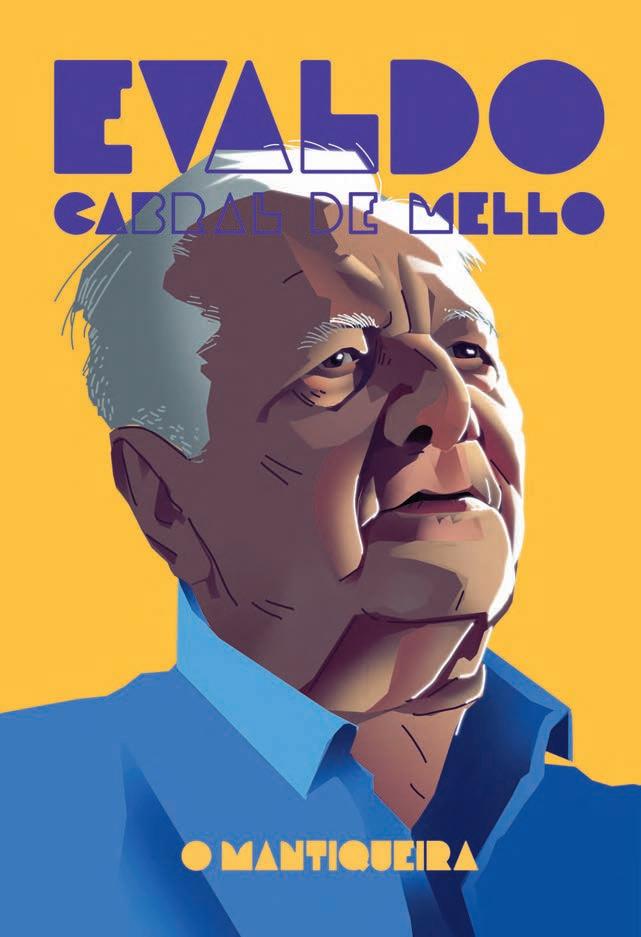
Texto de abertura de Heloisa Starling
Perguntas de Heloisa Starling, Lilia Schwarcz, Livia Baião e Schneider Carpeggiani
Ilustração de Arthur Starling
Mestre da arte de narrar, Evaldo Cabral de Mello teima que é um historiador de província, regional, e que só trata da estreita faixa da mata leste do Nordeste – entre Natal e a foz do São Francisco. Quanto a isso, não há quem o convença do contrário. Mas sua obra transformou a reflexão sobre o país: Brasil não é um só, são muitos. Ao mudar nosso ponto de mirada, Evaldo escreveu uma história de Pernambuco em que se revelam interpretações inovadoras sobre o Brasil. A narrativa é a linguagem própria ao pensamento e à imaginação, capaz de desvendar qual tipo de luz o passado oferece para nós, hoje, no presente. A escrita de Evaldo é poderosa: convoca a força da história, que confere permanência às ações humanas, para revelar aos brasileiros que os fatos dependem de nossas escolhas e o destino do país não está dado. Nossa vantagem é esta: o futuro é uma questão em aberto. Afinal, como diz uma de suas lições, história não é destino, nem está escrita nas estrelas. Nesta entrevista, ele fala sobre a importância de uma história regional, recomenda autores literários para a formação de jovens historiadores, trata da importância da narrativa para a história e comenta sobre esses tempos de Donald Trump.
Temos acompanhado notícias falando de separatismo com muita frequência, sobretudo ligadas a estados do Sul. O senhor podia falar um pouco sobre o histórico da ideia de separatismo no Brasil? Seriam manifestações recorrentes ou, de fato, preocupantes? A Confederação do Equador (1824), por exemplo, tinha um ideal separatista?
Quando a gente fala da Confederação do Equador e da Revolução de 1817, a gente fala de movimentos sólidos. Mas eles não eram antipatrióticos. Não havia ali a noção de patriotismo. A separação, então, era uma coisa natural. A história da Independência contada do ponto de vista do Rio de Janeiro subestimou o debate sobre autonomismo no país. A Independência não estava garantida sob forma unitária. A unidade brasileira era previsível entre outras possibilidades, como o desmembramento da América portuguesa ou a unidade sob o regime confederado, mas não era necessária. Ao contrário do que defendia José Bonifácio, enquanto lustrava o sonho de uma monarquia constitucional, implantada no país a partir do Rio de Janeiro, a América portuguesa não alimentou nenhuma vocação de vir a constituir um vasto Império – a bem da verdade, ao tempo da Independência tampouco existia uma unidade brasileira. Aspirações autonomistas existiam pelo Brasil afora, esse não era o nosso único projeto de emancipação política, não estava escrito nas estrelas que a Independência desembocaria na formação do Estado unitário, e a centralização nunca foi a solução desejada em todas as províncias. Hoje em dia, em relação ao Nordeste, não se pode falar de um projeto de separação da pátria. Nos anos 1950, nos anos 1960, esse negócio veio um pouco à tona de novo. Não a ideia de separatismo em si, mas a do protesto regional. A prova da superficialidade dos sentimentos separatistas, no Brasil, é a facilidade com que sempre foram abafados. A não ser na literatura. A literatura foi o refúgio, não digo do separatismo, digo mais da ideia do regional. Por conta de disparidades regionais, os estados do Sul, sobretudo Santa Catarina, falam de um sentimento separatista. Mas, no Brasil atual, eu não creio nessas notícias como algo muito importante.
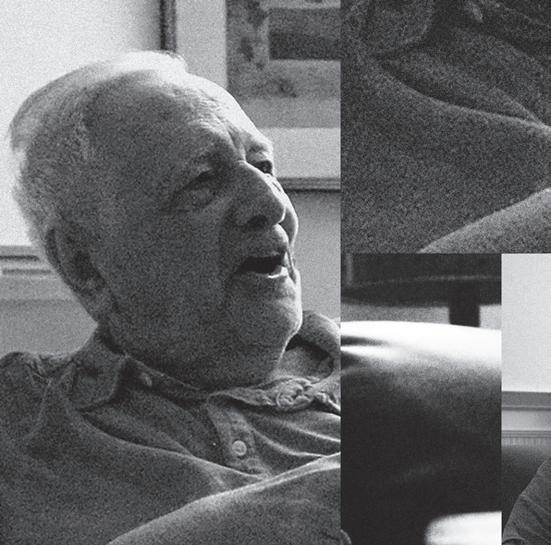
Já que estamos falando de noticiário, talvez a figura mais representativa dos tempos que vivemos seja a de Donald Trump. O que o senhor acha desse personagem como símbolo do momento histórico em que vivemos?
É um louco É um aventureiro Ele e o Elon Musk Você não sabe o que vai sair dali É um negócio impressionante Mas temos de lembrar que os Estados Unidos sempre foram conservadores Qualquer vitória de candidato democrata lá é até um verdadeiro milagre O Trump não está representando nada de novo. Ele representa os Estados Unidos de sempre Apenas, desta vez, um Estados Unidos que conseguiu botar a cabeça de fora Mas você vê, por exemplo, [Richard] Nixon [presidente dos EUA entre 1969 e 1974] não era, evidentemente, o Trump, não farei essa injustiça Porém as atitudes do Nixon já prometiam muita coisa nesse sentido. Também eu tenho de dizer que eu sou cético sobre as possibilidades de êxito do Trump Os Estados Unidos é um país muito aferrado a tradições de igualitarismo… Eu não creio que esse negócio irá muito longe Eu não creio no sucesso do Trump a longo prazo, o sucesso dele é a curto prazo.
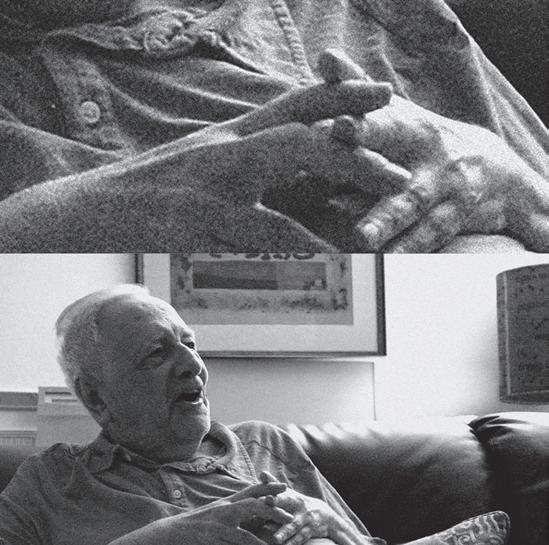
Há uma frase sua numa entrevista que diz algo como “a vida acontece num movimento aleatório”. É uma frase potente dita por um historiador, sobretudo porque ela entra em discordância com uma ideia corrente em meio às confusões do começo do século XXI: a ideia de que a história “vai fazer justiça”. As pessoas gostam de dizer “a história vai me dar razão”. O que o senhor acha dessa noção justiceira que as pessoas têm da história?
Ah, não faz sentido algum A história não dá razão a quem quer que seja Eu não acredito nisso de que a história vai vir e fazer justiça. A história é sempre contada por alguém que tem um interesse particular nela Eu, por exemplo, tinha um interesse particular na história, que era como uma colônia brasileira do século XVII encarava uma invasão estrangeira e lidava com essa invasão estrangeira
Por falar nesse seu interesse particular pela história, quem lê seu trabalho tem uma visão do Brasil fora do Rio de Janeiro como centro único dos grandes acontecimentos. Lendo seu trabalho, a gente percebe que há muitos Brasis... Neste momento em que vivemos, qual é a importância de uma história que seja regional? Aliás: existe uma história regional?
Não há história regional no Brasil. Ou, se há, não circula. Muitos brasileiros ignoram, por exemplo, o que aconteceu no 15 de agosto no Pará [adesão do Pará à Independência do Brasil, em 1823] ou o que foi a Batalha do Jenipapo [combate ocorrido na Vila de Campo Maior, no Piauí, quando, numa das batalhas mais sangrentas da Independência, 200 brasileiros foram mortos, a tiros de canhão, pelas tropas portuguesas no leito seco do rio Jenipapo] porque não há uma historiografia contando isso e que circule nas escolas e por todo o país. O sujeito que quer ser historiador do Brasil começa logo pelo Rio de Janeiro, achando que o Rio é o centro de tudo. Eu acho a abordagem regional da história essencial, porque você não pode entender história do Brasil só na base do Rio de Janeiro. Eu me considero um historiador regional. A história regional sendo uma história como outra qualquer, o que cabe esclarecer é o que leva uma pessoa a engajar-se nela. Em 1947, apareceu Tempo dos flamengos, de José Antônio Gonsalves de Mello, que era meu primo embora tivesse 20 anos mais que eu. É um ensaio sobre a história social do Brasil holandês. Eu o li em 1948 e, francamente, achei que a história era mais interessante do que a ficção. Comecei a me interessar pela história regional e a frequentar a casa de José Antônio. Ele preparou, então, para mim, um plano de leituras, constando de três itens: causas da invasão de Pernambuco pelos holandeses; a lavoura canavieira de Pernambuco sob a ocupação holandesa; e a comunidade israelita em Pernambuco sob o domínio holandês. Espero, aliás, ter escapado aos cacoetes da história local, embora me agrade muito conhecê-la. A região de que tratam meus livros não é o Nordeste como o concebemos hoje. Para mim, [a palavra] Nordeste designa menos um conceito geográfico do que as visões da Zona da Mata do meu estado que, ao longo do tempo, fui acumulando.
O que um historiador, ou alguém que quer se tornar um historiador, precisa ler?
O [Honoré de] Balzac. É um escritor que se apega muito aos detalhes, o que é importante para o historiador. Os personagens e temas aparecem e reaparecem nos meus livros, como nos romances de Balzac. Eu não diria [Marcel] Proust, porque o Proust não está na linha de Balzac. Stendhal, mas um pouco menos. Eu li Balzac, pela primeira vez, quando eu tinha 14, 15 anos… Ultimamente, eu me encantei muito por [William] Shakespeare, mas pelas peças históricas, as outras não me interessaram tanto assim. Eu hoje prefiro Shakespeare a [Miguel de] Cervantes. E você sabe que Shakespeare soube da existência de Cervantes, mas Cervantes não soube nunca da existência de Shakespeare? Isso segundo os historiadores ingleses. Cervantes, na verdade, nunca me marcou tanto assim. Mas não é por falta de merecimento dele. É por falta de merecimento meu. Um autor muito importante para mim foi o José Lins do Rego, que era considerado um escritor pornográfico quando eu era menino. Ele escrevia palavras fortes para alguém com 12, 13 anos. E, então, eu me escondia lá nos livros de papai pra ler o Zé Lins. Papai descobriu isso, mas não quis também frustrar o meu interesse cultural e encarregou um irmão mais velho meu de ler Zé Lins, riscando as palavras que fossem chocantes. Acontece que eu punha o livro na contraluz do dia e lia a palavra riscada. A censura dele, dessa forma, não funcionou para mim. Mais tarde na vida, eu o conheci. Era uma boa figura. Zé Lins era o Nordeste encarnado.
Ler Machado de Assis é importante para o historiador?
É correto afirmar que a sua historiografia seja política?
Eu achava Machado chato, eu fico encabulado de dizer isso porque soa altamente ofensivo para os brios do Rio de Janeiro. Mas eu acho o Machado chato. Sobretudo dizer isso sendo um membro da Academia Brasileira de Letras… Mas eu acho Machado tão, mas tão chato...
A história não dá razão a quem quer que seja. A história é sempre contada por alguém que tem um interesse particular nela
É. A intenção profunda é sempre política, até mesmo quando exploro a história genealógica, como em O nome e o sangue. O que me interessou em Rubro veio foi o imaginário do político que é uma dimensão essencial da ação política. No caso de Rubro veio, a discussão política concentra-se nos aspectos simbólicos e míticos do sentimento nativista. Nesse sentido é que a dimensão narrativa adquire sua importância: narrar é a maneira privilegiada de compreender a ação humana no que ela tem de peripécia. O que pretendi demonstrar em A outra Independência é que, ao tempo da Independência, o Brasil poderia ter enveredado por outro caminho, mas não digo que esse caminho seria necessariamente melhor ou pior; simplesmente não sabemos nem saberemos nunca. O que tentei fazer foi recapturar o momento no tempo em que a situação está indefinida, a ação política está em andamento, em que pode ocorrer isto ou aquilo, e até pode não ocorrer nada, por inércia.
Nós começamos falando das revoluções do século XIX. E, hoje, o que o senhor acha da ideia de revolução?
Eu tenho um medo danado. O que você quer de um senhor de 89 anos, hein? Que ele saia aí pela rua bradando palavras de ordem… eu tenho medo danado das coisas, das mudanças que podem vir

Em setembro de 2022, a artista e pesquisadora Glicéria Tupinambá estava em uma viagem de trabalho pela Europa. Glicéria e duas amigas indígenas, Francy Baniwa e Nelly Marubo, além de duas outras amigas, Luisa Elvira Belaunde e Cecilia McCallum, todas elas antropólogas, começaram o percurso por Londres, na Inglaterra. Lá, visitaram a reserva técnica do Museu Britânico
Texto e fotos de Leonardo Nascimento
para conhecer o acervo da instituição. À época, Glicéria postou a foto de um cocar feito de penas de arara e tucum. “Esse cocar é tupinambá. Está aqui no Museu Britânico”, escreveu na legenda. Elas fizeram, ainda, uma fala no Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland (RAI), importante associação dedicada à promoção da antropologia, compartilhando experiências e defenden-
do a necessidade de escreverem a própria história, a partir de uma perspectiva indígena. Na sequência, deslocaram-se para St. Andrews, uma pequena cidade histórica da Escócia, localizada a cerca de 80 quilômetros de Edimburgo. Recebidas como lideranças climáticas para uma agenda de oficinas e palestras na Universidade de St. Andrews, mais antiga universidade da Escócia e uma
das mais antigas do Reino Unido, elas se hospedaram todas juntas em uma casa em Edimburgo. Na distribuição de cômodos, Glicéria ficou com o escritório. Segundo me narrou a artista, além de meias e roupas de moletom, foram necessárias quatro camadas de cobertores para aguentar a temperatura local.
A casa ficou ainda mais gelada em uma das noites, na véspera da visita que elas fariam ao Parlamento escocês. Ao apagar as luzes para dormir, Glicéria sentiu uma energia estranha no entorno, como uma névoa que subia as escadas da casa e, lentamente, entrava no escritório e atravessava as camadas de cobertores. “E eram quatro camadas, não apenas uma!”, lembra. Vencida a barreira dos cobertores, a névoa foi penetrando sua carne até chegar aos ossos, esfriando todo o corpo. “Parecia que eu estava num estado de febre, mas eu não estava doente. Na hora, eu falei assim: isso é trabalho de morto!”
Glicéria se balançou, e a presença da névoa se foi, espalhando-se pela casa. Ao longe, era possível ouvir barulhos de panela vindos da cozinha. Pouco depois, ela sentiu a energia estranha retornar ao escritório, querendo lhe envolver em um abraço. E assim foi durante toda a noite. Pela manhã, as amigas desejaram bom-dia e quiseram saber se ela havia dormido bem. E se havia sonhado com algo. Qualquer pessoa que já teve a experiência de dormir em uma aldeia indígena sabe que é bastante comum, ao despertar, ouvir a seguinte pergunta:
“Sonhou com o quê?”.
“Bom dia nada, esta casa tem fantasmas”, respondeu Glicéria. “E outra coisa: vai morrer alguém hoje!” As amigas logo se apressaram em repreendê-la, dizendo que ninguém morreria. “Se não vai morrer ninguém, então tá bom!”, retrucou ensimesmada.
Chegando ao Parlamento para cumprir a agenda do dia, elas ouviram rumores de que a rainha Elizabeth II (1926-2022) estava passando mal. Na mesma hora, as amigas olharam atônitas para Glicéria, que fingiu não entender a situação. Ao finalizarem seus compromissos e se encaminharem para a saída, foram surpreendidas pelo som das trombetas: a monarca, que estava em sua residência de férias, em um castelo na Escócia, estava morta. “Célia, você matou a rainha!”, disse uma das amigas. Ainda que impressionada pela coincidência, Glicéria não deu muita confiança para a situação. Afinal,
que relação a rainha do Reino Unido poderia ter com ela?
A artista seguiu sozinha para Copenhague, para conhecer os mantos tupinambá presentes no acervo do Museu Nacional da Dinamarca. Na ocasião, ela postou novas fotos, compartilhando os passos de sua pesquisa. Em uma delas, escreveu na legenda: “Uma mulher da etnia do povo Tupinambá chegou pelo ar atravessando oceano e mares para chegar no Velho Mundo, seguindo as pegadas deixadas pelos meus ancestrais…”.
Ao final do dia, profundamente emocionada pelo encontro com os mantos, símbolos da memória e resistência ances-
a arte é um caminho para difundir a mensagem dos povos indígenas, mas o manto tupinambá não é um objeto de arte
tral do seu povo, Glicéria se deitou para dormir e foi surpreendida por uma visita inesperada: era a rainha, que vinha lhe pedir licença para ir embora.
“Eu fiquei pensando: por que a rainha veio atrás de mim no mundo dos sonhos? Se ela veio me pedir licença, ela tem algo que é meu. Eu sou Tupinambá. O que ela tem que é meu? Só se for um manto escondido em seu espólio”, reflete Glicéria, ainda hoje intrigada com a situação.
As memórias da aldeia Tupinambá da Serra do Padeiro Glicéria Jesus da Silva, mais conhecida como Glicéria Tupinambá, é uma importante liderança do povo Tupinambá. Nasci-
da em 1982 por mãos de parteira na aldeia Serra do Padeiro – localizada na Terra Indígena Tupinambá de Olivença, no sul da Bahia –, Célia, como é chamada por amigos e familiares, participa ativamente da vida comunitária do seu povo, envolvendo-se em questões relacionadas à organização política, à educação, às práticas religiosas, aos serviços sociais e aos direitos das mulheres. Nos últimos anos, Glicéria tornou-se conhecida internacionalmente por retomar a confecção dos mantos tupinambá, construindo uma trajetória artística e política que propõe interpretações críticas sobre o patrimônio indígena e novas diretrizes para as práticas museais.
Formada em Licenciatura Intercultural Indígena pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), Glicéria foi professora no Colégio Estadual Indígena Tupinambá Serra do Padeiro (CEITSP). Atualmente, em 2025, é doutoranda em antropologia social pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, além de mestra pela mesma instituição.
A Terra Indígena Tupinambá de Olivença tem aproximadamente 47 mil hectares e é composta por mais de 20 comunidades, dentre elas a Serra do Padeiro. A região central da aldeia, onde moram Glicéria e seus familiares, fica no pé da serra, conhecida pelos Tupinambá como a grande morada dos Encantados. Centrais em sua cosmologia, os Encantados são entidades que possuem domínios territoriais específicos e são capazes de se comunicar com os humanos de diferentes formas, em especial através dos sonhos.
A Serra do Padeiro se estende pelos municípios de Buerarema, São José da Vitória e Una. Nas duas vezes em que visitei a aldeia, a primeira em 2023 e a segunda em 2025, um primo de Glicéria me buscou de carro no centro de São José, situado aproximadamente a 14 quilômetros da casa da artista.
Em minhas estadias na aldeia, aprendi que o nome da serra revela uma história marcada pela perda da língua originária, uma vez que se refere aos indígenas que moravam nas pedreiras. Como era proibido falar a própria língua e os indígenas tinham dificuldade com a pronúncia do português, eles chamavam esses locais de padeira. Os jesuítas registraram um desses grupos como família Padeiro, dando origem ao nome da serra. Há, ainda, uma outra versão que conta que o nome, na verdade, faz referência a um padeiro comido por onça na região.
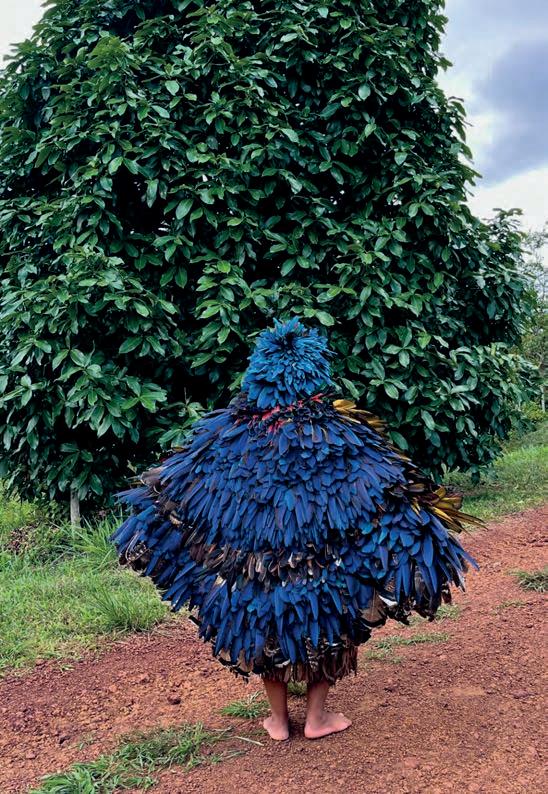
“O território sonha junto com a gente. Se ele se sente ameaçado, ele vai falar conosco, e todos da aldeia vão ter o mesmo sonho. O sonho nos conecta”
A segunda hipótese ganha novas cores quando sabemos a história por trás do nome de Glicéria, escolhido por seu avô, João Ferreira da Silva, o pajé João de Nô. Glicéria era o nome de sua prima, levada grávida para o aldeamento de Nossa Senhora da Escada, em Olivença. Não se acostumando com o local, ela fugiu assim que ganhou a criança. Como me narrou Maria da Glória de Jesus, mãe de Glicéria, mãe e bebê foram comidos por uma onça durante a fuga. Como homenagem, o sogro pediu à Dona Maria que desse o nome de Glicéria à sua próxima filha. João de Nô nasceu do primeiro casamento do pai, bisavô da artista. Glicéria pertence, portanto, à primeira família, chamada por ela de família velha. Na Serra do Padeiro, falar em ancestralidade significa falar dos troncos dos velhos, as três famílias que deram origem à aldeia: tronco Nô, tronco Barbosa e tronco Fulgêncio. Como se diz por lá, os Tupinambá da Serra do Padeiro vivem onde os umbigos dos seus antepassados estão enterrados. Apesar de formarem uma mesma comunidade, cada tronco possui características próprias. A família velha do tronco Nô tem a questão espiritual muito forte. Por isso, logo após a sua partida, o dom de ser pajé do avô de Glicéria foi passado para o seu pai, Rosemiro Ferreira
da Silva, chamado por todos de Lírio. O tronco Nô possui também o dom da oralidade, e as histórias narradas pelos mais velhos atravessam gerações. Quando criança, o que deixava Glicéria feliz era sentir-se livre. Livre para caçar, mesmo não caçando nada, como ela me contou entre risos, ou para subir no pé de mamão ou de ingá. Os mais velhos a repreendiam: “Não faça isso que isso é coisa de menino. Você é algum moleque macho?”. Mas ela não estava nem aí. Se tinha capacidade, então podia fazer aquilo. Essa vida de criança que ela teve na aldeia, indo ao rio tomar banho e pescar, é a vida que deseja para os seus dois filhos, e que pretende deixar para os futuros netos. “Eu quero deixar pras futuras gerações. Eu nunca almejei sair daqui. Tem alguma coisa estranha nos outros lugares que eu frequentei. É diferente, a terra é fria. São lugares de muitos fantasmas.”
A luta pela terra
Em nossas conversas ao longo dos últimos anos, ocorridas em diferentes cidades, Glicéria me contou detalhes sobre os diversos momentos da luta pela terra em sua região, desde a época dos seus bisavós. “O pessoal começou a se organizar pra ficar mais forte e botar os invasores pra correr. A gente sempre fez resistência!”, disse ela em uma das ocasiões.
Foi na Serra do Padeiro que seus antepassados se estabeleceram, enfrentando as inúmeras perseguições dos latifundiários, interessados nas riquezas materiais do território. Como afirmou Magnólia, irmã de Glicéria, os mais velhos ensinaram as leis da sobrevivência e a forma de ser Tupinambá.
“Esses ensinamentos nos fortalecem, deixam-nos cada vez mais orgulhosos, pois sabemos que não estamos sozinhos, temos uma força que nos protege, guia-nos e faz com que sejamos sempre livres de toda a forma de maldade dos não indígenas que nos perseguem, querem a todo custo o nosso território tradicional”, argumenta Magnólia. Dessa forma, através de um processo de lutas e resistências, os indígenas estão recuperando o que lhes foi roubado.
Os Tupinambá entraram na Justiça para ter direito à terra, mas se viram frustrados com o desenrolar do processo. Em 2004, iniciaram ações coletivas conhecidas como retomadas de terras, descritas pela antropóloga Daniela Alarcon como “processos de recuperação, pelos indígenas, de áreas
por eles tradicionalmente ocupadas e que se encontravam em posse de não indígenas”. No mesmo ano, o Estado brasileiro deu início à demarcação da Terra Indígena Tupinambá de Olivença.
A aceleração do processo de retomada foi acompanhada por uma grande ofensiva contra a demarcação, expondo os Tupinambá a sucessivas violências, praticadas por uma parcela da sociedade regional e mesmo por agentes do Estado, com grande criminalização das lideranças. Foi descoberto até mesmo um plano para assassinar o cacique Babau, irmão de Glicéria. Em uma audiência ocorrida logo após o início do processo de retomada, Glicéria ouviu da boca de um juiz que, ali, o júri não era favorável aos “índios”. “Eu me dei conta de que a Justiça, ela é… cega né?”, conclui.
Como descreve Alarcón em seu livro O retorno da terra (Editora Elefante, 2019), antes do processo de retomada, os Tupinambá viviam em fazendas da região, mantendo com os supostos proprietários relações de meação ou de trabalho assalariado; em pequenos sítios, que haviam conseguido manter em sua posse; ou haviam se mudado para outras localidades, como sedes de municípios do sul da Bahia ou metrópoles do Centro-Sul do país.
Segundo Glicéria, os Encantados já tinham anunciado que era preciso se preparar. Quando chegou o período de organizar a luta, avisaram que não seria possível derramar nem uma gota de sangue. “A gente ouviu os Encantados e foi tirar tudo que estava agredindo a terra. A gente botou pra fora os madeireiros, caçadores e pescadores que jogavam veneno no rio. A gente de facão contra as armas de fogo deles. Quem é que tinha juízo nesse dia? Ninguém!”
Em 2010, Glicéria foi presa junto a seu bebê de colo, após denunciar ações violentas da Polícia Federal contra o seu povo. A experiência traumática de mais de dois meses de cárcere foi uma espécie de rito de passagem. Se antes ela já estava envolvida na luta pelo território, em particular, e no movimento indígena, em geral, ela se deu conta de que, ao deixar a prisão com seu filho, precisaria lutar em dobro para realizar o sonho de conquistar uma vida digna para a sua comunidade.
Manto tupinambá
Nos séculos XVI e XVII, diversos mantos plumários confeccionados pelos Tupinambá foram levados embora por viajantes europeus. Ainda que a técnica de

seu lugar de direito, principalmente o lugar das mulheres indígenas
feitura estivesse temporariamente perdida na história, o manto permaneceu vivo na memória dos Tupinambá por meio de seus cantos. Em um deles, que ouvi em diversas ocasiões, canta-se que “Tupinambá subiu a serra, todo coberto de penas”. Para Glicéria, só pode ser com o manto.
Glicéria costuma dizer que a cultura tupinambá é como um pote cujos cacos foram espalhados por todos os lados. Ela se vê como alguém que está trabalhando arduamente com sua comunidade para recolher os cacos e colá-los, formando um mosaico. Nesse sentido, a retomada dos mantos é uma importante maneira de afirmar, para indígenas e não indígenas, que a cultura dos Tupinambá –povo considerado extinto até bem pouco tempo – permanece viva.
Até onde se sabe, existem 11 mantos remanescentes do período colonial: dez deles em museus europeus e um em território brasileiro, doado em 2024 pelo Museu Nacional da Dinamarca para a reconstrução do Museu Nacional do Rio de Janeiro.
Como explica a pesquisadora Amy Buono, esses mantos “foram produzidos principalmente de penas de guará ou íbis-escarlate, um pássaro aquático da costa atlântica da América do Sul que lembra um flamingo pequeno e intensamente colorido. Plumaristas tupis altamente habilidosos imitavam a forma e a aparência dos íbis adultos e filhotes escolhendo e modificando individualmente as penas do pássaro para cada parte do manto, para depois usar uma variedade de técnicas de amarração para criar uma aparência ‘natural’, enquanto técnicas ainda mais elaboradas permitiam que os tupis mudassem a cor das penas durante o seu crescimento na ave viva”. Em 2000, quando o manto de penas de guará que estava em Copenhague veio para a exposição Brasil + 500: Mostra do Redescobrimento, realizada no Parque
Ibirapuera, em São Paulo, Dona Nivalda, anciã do povo Tupinambá, viu o manto pessoalmente e resolveu pedir a sua repatriação, por meio de uma petição assinada pelos membros das diferentes aldeias. Embora o manto só tenha retornado ao Brasil em 2024, o ato de Dona Nivalda teve uma repercussão muito grande, dando visibilidade ao povo e desencadeando o processo de demarcação do território, ainda hoje inconcluso. Em 2006, Glicéria decidiu que gostaria de fazer um manto para presentear o Encantado Tupinambá, mas não sabia como fazê-lo. Na mesma época, a antropóloga Patrícia Navarro, da Universidade Estadual da Bahia, foi dar um curso de história e antropologia para os professores da aldeia. Ela levou imagens dos mantos e projetou na parede. Foi a primeira vez que a artista viu a fotografia de um dos mantos, e buscou entender como fazer a malha observando os seus detalhes.
Como não tinha a quantidade suficiente de penas, Glicéria fez o manto na forma de um cocar. O Encantado recebeu o presente na festa de São Sebastião, através do pajé. Durante a festa, considerada como a virada de ano religiosa dos Tupinambá, em que o Encantado diz como serão as estações, os plantios e a vivência sobre a terra naquele ano, Glicéria pediu que o seu povo conseguisse recuperar os traços perdidos da cultura. A resposta foi que ela não se preocupasse, que tudo viria no tempo certo.
No ano seguinte, os Tupinambá receberam um convite para participar da exposição Os Primeiros Brasileiros, do Museu Nacional, com o manto confeccionado por Glicéria. Os Encantados autorizaram que o manto fosse levado, mas pediram que outros três fossem feitos por ela. “Eu não sabia como fazê-los, pois precisaria de muitas penas. Vontade eu tinha, mas não tinha os meios. Então, parei e esperei o tempo certo.” Aí vieram os sonhos e o manto passou a se comunicar com ela.
Pela manhã, Glicéria ia até a cozinha da “velha Maria” fazer o relato e ouvir o que a mãe tinha a dizer.
Em 2018, Glicéria foi convidada pela antropóloga Nathalie Pavelic para fazer uma apresentação sobre os Encantados em uma universidade na França. Nessa viagem, a artista viu o manto que está na reserva do Museu do Quai Branly, em Paris. Quando chegou na porta da sala onde ele está guardado, sentiu que alguém estava lá dentro esperando por ela. “Eu entrei num estado que eu chamo de cosmoagonia. Eu estava num tempo-espaço diferente; eu estava no presente e no passado”, relembra.
O manto a estava esperando e falou com ela. “Eu fiquei preocupada pensando: ‘meu Deus do céu, eu estou doida!’. Porque foi ensinado na escola que objeto é objeto. Mas esse é um pensamento pobre. Depois eu fui entender que os objetos guardam uma memória. Pra fazer o manto, eu desenvolvi uma técnica que eu chamo de cosmotécnica, um modo de ensinar que vem do Cosmo. Eu aprendo muito através dos sonhos. E eu gosto de ouvir o que o território fala e apresenta pra mim.”
Glicéria ficou diante do manto por quase uma hora, olhando e analisando. Olhou as malhas, as tramas, a forma, a textura, o tipo de fibra e de linha. Examinou as penas tentando identificar as espécies de aves e de qual parte do corpo era cada uma delas. Ela lembra que a energia que sentiu naquele momento era uma energia feminina. “Eu falei: esse manto foi feito e usado por mulheres.”
Em 2020, Glicéria foi convidada pelo pesquisador Augustin de Tugny para falar dos artefatos indígenas em um seminário na Universidade Federal do Sul da Bahia. Através de Augustin, ela descobriu a existência de outros dez mantos espalhados por museus da Europa. Ele mostrou algumas imagens, e, em uma delas, do manto que se encontra em Basileia, na Suíça, Glicéria se deu conta de que o ponto utilizado em sua confecção era o mesmo do jereré, feito por sua madrinha, Dona Dai, no instrumento para a pesca. Era uma foto que mostrava detalhadamente a trama do manto, já que algumas partes estavam desfeitas e não tinham mais penas. Ou seja, o ponto ainda estava vivo dentro de sua comunidade. Ao mostrar essas imagens para que a madrinha lhe ensinasse a confeccionar o manto, ela ouviu a seguinte pergunta: “Você já sonhou?”. Glicéria respondeu que sim. E ela: “Você já sentiu? Já viu?”. Ao ouvir novamente uma resposta afir-
mativa, Dona Dai olhou em seus olhos e foi enfática: “Volte e vá fazer”.
Sonhos ancestrais
“Foi muito importante trazer vida pro manto e mostrar que ele não era aquela coisa obsoleta, guardada num canto pra ser observada. É emocionante ver a peça viva e em movimento, sendo usada por um membro da comunidade. O manto é um presente pra trazer cura pra terra. E ele voltou a existir porque o território está sendo protegido”, declara Glicéria.
Através da experiência de produzir o manto com as próprias mãos, algo sobre a história, pouco a pouco, vai sendo revelado. Tudo no tempo certo, como disse o Encantado Tupinambá à Glicéria. O tecer artesanal requer toda uma pesquisa pelo território. Há, ainda, um importante esforço histórico e antropológico para identificar fragmentos do que permaneceu da cultura ancestral.
O manto surge como um gesto de colocar muitas coisas que estavam apagadas em seu lugar de direito, principalmente o lugar das mulheres indígenas. Afinal, como diz o lema presente em um estêncil de duas mulheres Tupinambá que se olham, desenhado por Glicéria e estampado na parte externa do muro de sua casa, “o manto é feminino”.
“Pelos relatos dos viajantes, eles só tiveram contato com homens. Eles tinham uma intenção, um olhar. Não vieram ver e descrever como as mulheres se comportavam, só as viam na mão de obra, na cozinha, trabalhando, ou com aquele olhar de sexualidade. Eu sabia que tinha algo a mais, não era apenas isso.”
Glicéria compreende a arte como um caminho de difusão da mensagem dos povos indígenas, ainda que ela seja bastante incisiva em afirmar que o manto não é um objeto de arte. Ela prefere entender nessa categoria apenas as produções que surgem como um desdobramento de sua pesquisa, como desenhos, filmes e fotografias.
Como pesquisadora acadêmica, muitas das perguntas que Glicéria remete às fontes históricas são inspiradas por sonhos. Se visitas a museus e bibliotecas compreendem parte essencial de sua pesquisa, o sonho, tecnologia ancestral de conhecimento e proteção do território, impõe-se como prática fundamental para obter experiências e pistas para o desbravar da caminhada. “Nós somos pessoas que sonham no território, e o território sonha junto com a gente. Se ele
se sente ameaçado, ele vai falar conosco, e todos da aldeia vão ter o mesmo sonho. O sonho nos conecta.”
Nos últimos anos, o neurocientista Sidarta Ribeiro vem chamando a atenção para a necessidade de recuperarmos a capacidade ancestral do sonho. Em suas pesquisas e intervenções públicas, Sidarta propõe unir os saberes ancestrais dos povos originários e de origem africana ao conhecimento científico, além de pautar uma reavaliação das experiências com alucinógenos. “A sociedade dos brancos desaprendeu a arte de sonhar, que exige memória, intenção, interpretação e coletivização das imagens oníricas pela narrativa ao despertar”, escreve ele em Sonho manifesto (Companhia das Letras, 2022).
Em um curso que ministrou na Unicamp no primeiro semestre deste ano, Glicéria pediu que os/as alunos/as se esforçassem para lembrar de seus sonhos ao acordar, e que os memorizassem para dividir com a turma durante as aulas. Se, no início, todos tiveram enorme dificuldade em realizar o exercício proposto, com o passar do semestre o quadro foi-se modificando, o que, segundo ela, confirma que sonhar é uma forma de tecnologia que precisa ser constantemente trabalhada.
Como na visita que recebeu da rainha Elizabeth II, Glicéria tem enorme habilidade em narrar seus sonhos, assim como um grande prazer em ouvir o que temos a dizer sobre eles. Afinal, mais do que uma sucessão de imagens, ideias e sensações que ocorrem involuntariamente durante o sono, para os Tupinambá, os sonhos podem conter dimensões simbólicas que precisam ser interpretadas – o que faz dessa prática uma atividade social que entrelaça o sono, o sonho e a narrativa.
Unindo desejo e atividade onírica, dupla acepção do verbo sonhar em nossa língua, com Glicéria e os Tupinambá da Serra do Padeiro aprendi que é possível atravessar o terror por meio dos sonhos. Para tanto, é imprescindível compreendermos que o sonho só pode ser considerado uma prática política quando compartilhado socialmente e orientado para a ação.
Pesadelo do mundo colonial, a retomada tupinambá é, acima de tudo, uma guerra pelo direito de ousar sonhar
O jornalista viajou para a Serra do Padeiro (BA) com uma bolsa da Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research.


por Lilia Schwarcz

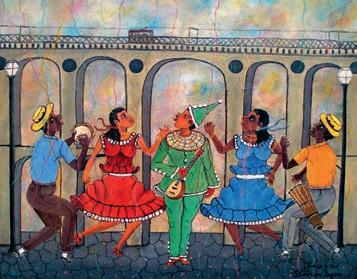
O mundo mora nos detalhes
Telas de Heitor dos Prazeres mostram que a alegria, e não a violência, é a prova dos nove
Poucas pessoas representaram tão bem o ambiente carioca da primeira metade do século XX como Heitor dos Prazeres (1898-1966), que foi artista plástico, figurinista, marceneiro, compositor, estilista e sambista. Nascido no período do imediato pós-abolição, Heitor é conhecido por sua produção atravessada pela cultura afro-diaspórica e pela influência das religiões de matriz africana. Elas são o seu elemento, o seu motor de criação. Foi de autoria dele a expressão Pequena África, que o artista usou para definir a região localizada na zona portuária do Rio de Janeiro e que abrange os bairros da Saúde, Gamboa e Santo Cristo. E a expressão pegou. A região é conhecida como um local de grande ligação com a história da escravidão e da cultura afro-brasileira, e Heitor deu a ela um sentido, ao mesmo tempo, geográfico e sentimental. Esse era o lugar onde ele vivia, onde moravam sua família, seus vizinhos e conhecidos, e o espaço em que experimentava toda a sua sensibilidade.
Heitor dos Prazeres foi um autodidata. Sua inserção no ambiente artístico carioca deu-se, a princípio, pela música, herança de seu pai, que o ensinou a tocar clarinete. Nesse meio-tempo, conviveu com blocos carnavalescos e fez escola no samba. Na segunda metade dos anos 1930, e após a morte de sua primeira esposa, passou a se dedicar também à pintura, tratando de temas relacionados às tradições e à cultura brasileira, bem como incluiu uma série de cenas do cotidiano das populações negras da cidade.
Em um momento em que as pinturas mais valorizadas versavam, sobretudo, acerca da sociabilidade urbana branca, europeizada e das elites, ou passavam a estilizar traços das culturas populares, Heitor pintava a sua própria realidade de bairro, tintada pelas cores da alegria e por seus personagens sempre elegantes e em situações de prazer.
Suas pinturas eram, à época, conhecidas e denominadas como populares ou naives, como se apenas lidassem com técnicas restritas e possibilidades limitadas. Afinal, esses sempre foram termos que serviram mais à deslegitimação e à inferiorização no mercado e na linguagem das artes do que ao reconhecimento da técnica e da qualidade artística de seus componentes. Mas esse não era o caso de Heitor dos Prazeres, que logo se impôs por seu estilo e suas temáticas únicas. Impôs-se também por suas técnicas que lembravam as estatuárias yorubá, com
seus olhos e dentes à mostra. O artista praticava, assim, outro tipo de academicismo: um cortado e estruturado por matrizes estéticas africanas e que alterava padrões de produção.
O samba, o Carnaval, o carteado, as paisagens urbanas, as cenas com modelos negros e negras, os interiores das casas e dos bares, os mercados, o rapaz da lavanderia com suas roupas esvoaçantes, os retratos, as fantasias e as brincadeiras das crianças foram seus temas mais frequentes, que aparecem sob diversas formas e, por vezes, apenas com pequenas variações. Como se compusessem um grande quebra-cabeças em que cada tela cumpre um determinado espaço e papel para o conjunto da obra.
Considerado um artista polivalente, Heitor era capaz de se apropriar de várias linguagens, sendo que, no auge de sua
produção em pintura, chegou a manter um ateliê em que contava com diversos assistentes trabalhando em um esquema de oficina. Por isso, talvez, alguns temas apareçam de maneira bastante reiterada em sua obra, sem incorrer na mera repetição mecânica.
Esse é o caso dos arcos da Lapa, presentes em uma série de telas do pintor, sempre com o mesmo bondinho que, alegoricamente, pode ser visto na parte de cima das arcadas, como se, por vezes, representasse o trabalho (ao longe), ou, então, e em outras situações, um coletivo de foliões motorizados.
Esse é o tema central das duas telas do pintor vistas na página ao lado, Frevo, Arcos da Lapa (acima) e Samba, Arcos da Lapa.* Nelas, vemos algumas características mais gerais e presentes nos trabalhos do artista. Em primeiro lugar, as pessoas negras aparecem sempre muito bem-vestidas ou até fantasiadas, divertindo-se em meio às festas ou aos costumes locais. São arlequins e pierrôs, homens com seus pandeiros e bumbos, mulheres com suas saias, suas blusas
e seus sapatos coloridos, vivendo nesse tempo das festas, que escapa ao cotidiano pesado do trabalho.
Aliás, em vez de representar seus personagens em meio a situações extenuantes ou que denotam violência ou pobreza, Heitor preferia retratá-los em ocasiões de alegria e lazer. E é assim que ocorre nessas duas telas, em que os protagonistas aparecem dançando, totalmente absortos e entretidos em meio a seus rituais.
Uma segunda característica peculiar a esse artista são os rostos sempre tomados de perfil, com os lábios carnudos e, por vezes, os dentes em destaque. As mulheres apresentam seus seios e suas cinturas bem demarcados, enquanto os homens surgem com seus instrumentos, denotando sua expertise no samba e no Carnaval.
As imagens são muito coloridas, passando uma sensação de relaxamento e de coletividade. Sim, pois, no trabalho de Heitor dos Prazeres, as pessoas negras são sempre tomadas em situações coletivas. Essas são atividades feitas pela comunidade, que se diverte muito com elas. São seu cotidiano e parte relevante de sua identidade de grupo.
Chamam atenção, ainda, as cores de fundo das telas: variadas e marcantes, a despeito de mais rebaixadas na sua paleta de tons, elas ajudam a compor esse ambiente de festa e festeiro. Outro Brasil, feito da diversão e dos momentos de encontro.
Também muito típica é a maneira como Heitor dos Prazeres pinta as ruas e calçadas por onde desfilam os passistas. Muitas vezes apresentadas de maneira craquelada e, em outros momentos, surgindo com muita tinta para defini-las, elas conformam parte fundamental da representação. Na verdade, é como se o artista não quisesse deixar qualquer parte da tela ociosa, e fosse preciso preencher os vazios.
A vida se realiza, pois, por meio de detalhes, inscritos nas roupas, nos sapatos, na tonalidade do céu e no caráter mais rude do solo. Esse é uma espécie de léxico Heitor dos Prazeres, que, com raras exceções, aparece sempre muito bem identificado, como nas duas telas. Vê-las é como receber um passaporte de entrada rumo a esse mundo da Pequena África, que ganha nesse artista a sua melhor tradução
*As telas integram o acervo do !ard% | Arte Design Museu, em Campos do Jordão (SP).
discordância
cial
Texto de Silviano Santiago Ilustração de Hana Luzia
“Sem esse contrapeso [a ambição regulatória pelas nações], a revolução agora em curso arrisca trocar a promessa de emancipação pelo espectro da servidão digital, onde o espírito humano cede o lugar aos circuitos e a ética se tende à frieza dos algoritmos ”
Patrícia Akester
Com a disseminação planetária da internet e da inteligência artificial, informações necessárias, variadas e precisas correm livres e soltas pela nuvem cibernética e se tornam acessíveis a toda pergunta que o consulente faz em aplicativo. A informação ainda não é facultada a todos Será um dia Consultá-las, ou não, depende de cada cidadã e cidadão. E custa mensalidades pagas em reais Ao custo de assinatura ou de pagamento pelo uso, o indivíduo curioso tem acesso ao que
de mais interessante está programado – exemplifico – sobre uma obra de arte e até mais A seu pedido, o robótico e serviçal algoritmo inventa em segundos a narrativa explicativa da obra de arte que satisfaz a curiosidade do consulente. O consulente ganha e até poupa a massa cinzenta A narrativa que recebe do algoritmo contém o suficiente. Que ele não fique preguiçoso! Porém, alguns profissionais da imprensa e das instituições educacionais e culturais perdem a função.
Se não se cuidarem, perdem o emprego. Por comodidade, vou referir-me aos que têm a curiosidade voltada para a história da arte e a exercita na tarefa crítica. No meu caso, na tarefa de crítico literário
Se a originalidade de tex to crítico meu for questionada por terceiro é porque o meu produto está apenas repetindo o que lhe é dado quase de graça por uma nuvem cibernética esquadrinhada por algoritmo, se consultados Rua! Uma mão na frente outra atrás.
Nada de dar murros no computador, inutilizando o aparelho, ele tem a sua utilidade. Nada de dar murro na ponta de faca do aplicativo de IA, ele é todo-poderoso. Acordo-me em pesadelo autorreflexivo e me vejo diante do robô HAL 9000, de filme de Stanley Kubrick. Lembram? 2001: uma odisseia no espaço
Estou sendo assassinado por HAL.
Vítima de crime de lesa-majestade, “invoco os santos”, em dupla com Lupicínio Rodrigues, “para vingança clamar”. Quero de volta profissão e carteira de trabalho assinada. E a minha velha e produtiva curiosidade humana.
Arregaço as mangas espontâneas, livres e ricas da imaginação e, sob a sua bênção, programo vingança ao algoritmo que se camufla em nuvem e se arma até os dentes com padrões ditatoriais que visam ao assassinato da curiosidade humana. De posse das marcas impressas no meu próprio corpo, que incriminam o assassino, esboço o programa de contra-ataque. Estou a perigo. Desempregado para todo o sempre, mas fulo de raiva! Tenho de desmascarar a ganância de dólares e de poder público que levam o algoritmo na nuvem a delito criminoso da curiosidade crítica dos humanos. Avançar!
Das tripas de crítico defunto, ou de defunto crítico, me ressuscito detetive como o Brás Cubas foi ressuscitado como romancista por Machado de Assis. Trago nas mãos as algemas para, no primeiro deslize, prender o criminoso. Antes, tenho de me precaver. A besta tem sete cabeças.
Como surpreender o HAL 9000 numa mancada? Das minhas tripas de crítico defunto não sai o coração já necropsiado, sai uma pergunta que, acredito, escapa às padronagens¹ categóricas programadas pelo JavaScript dele. Vai cair de joelhos aos meus pés.
Bangue-bangue na tela. Com esta consulta, cara pálida, te derrubo:
Por que Lúcia Miguel-Pereira usa o vocábulo discórdia para descrever em 1936, ano em que nasço em Formiga, o julgamento crítico que o romancista brasileiro Machado de Assis faz do romance O primo Basílio, escrito pelo português Eça de Queirós três anos antes de ele próprio escrever o famoso Memórias póstumas de Brás Cubas, cujo narrador/protagonista é o amante no triângulo sexual e amoroso, papel exercido – apenas no título do romance português – por Basílio?
Haja programa que desvende o pomo da discórdia que distancia para sempre
a infidelidade da esposa, antes
o escritor brasileiro do português. Se lá na antiga Grécia a maçã de ouro foi motivo para uma guerra, a de Troia, por que não me faço agora de intruso entre os dois romancistas? Visto-me de Éris, a responsável pelo pomo de ouro e deusa da discórdia, e ponho definitivamente o HAL 9000 contra a parede da História literária contemporânea.
“Não me responde, né, sue sacane de merde”, digo eu ao algoritmo mudo, repetindo o célebre bordão da atriz Henriette Morineau nos palcos cariocas dos anos 1960.
Com o bordão da Henriette, denuncio a minha idade avançada e o meu interesse especial pela cultura francesa. Isso também não é gratuito da minha parte. Se consultado sobre idade e interesse, o algoritmo franqueia fácil a boa resposta. Idade e interesse pessoal é o abc do ChatGPT. Jogo a isca para que o HAL 9000 a morda vitorioso – e se foda. Meu contra-ataque tem suas estratégias. Retiro do túmulo o Salmo 52, que diz: pela boca morre o peixe e – acrescento eu – o algoritmo também.
O algoritmo e os seus circuitos são como a bomba jogada pelo B-2 Spirit no Irã.
Atingem as instalações nucleares de Teerã para esvaziar (to pre-empt) a função de domo de ferro a proteger futuramente Israel de inexistente bomba atômica xiita. Vivaldinos o primeiro-ministro e o presidente da República. Esvaziam o copo com pouca água para que não entorne o caldo que não se sabe se ele no futuro chegará a conter. “Drôle de guerre essa armada pela IA”, ressuscito Erich von Stroheim, o ator do clássico sobre a Primeira Grande Guerra de Jean Renoir, A grande ilusão
Como sei que, na piscina do saber, o algoritmo é especialista em dar caldo nos ingênuos, jogo na sua cara: Por que tu me assassinas, se só esclareces o consulente
com o óbvio ululante, sem desvendar o mistério que encobre a discórdia responsável pelo atrito entre dois dos maiores romancistas em língua portuguesa?
Sento-me frente a frente com o computador. Sem recorrer ao JavaScript, conclamo com as letras tique-taque do alfabeto romano: camaradas críticos, nossa salvação está em fazer perguntas ao HAL que escapam ao saber padronizado em nuvem cibernética que será expresso por prêt-à-porter narrativo de algoritmo atávico.
Volto-me para mim defunto, como se estivesse a me ver no espelho em modelito Givenchy. Abro as gavetinhas da memória para desembrulhar as informações que disponho organizadas à minha imaginação crítica. Você, leitor, e eu vamos nos divertir com elas.
Escarafuncho os esconderijos íntimos do hipocampo que faz parte do sistema límbico. Seleciono as pistas iniciais e mais decisivas entre as que estão esparramadas pelo lobo frontal. Destaco a primeira e mais importante: a resenha do romance O primo Basílio que Machado publica em maio de 1878, logo depois do fracasso do seu quarto romance, Iaiá Garcia, e pouco antes da crise nervosa que o levará em companhia da esposa, Carolina, a três meses de repouso em Nova Friburgo.
Lúcia Miguel-Pereira é curta e certeira na análise do ano de 1878 na vida de Machado: “Não aguentou o excesso de atividade. Sua saúde, sempre débil, passou nesse momento por uma crise mais grave”. No vulgar: pirou! Muito trabalho e pouca saúde, os males do Brasil são, replica Macunaíma. Tão lido quanto, mas em tom trágico, o gaúcho Augusto Meyer fala do ano como o da conversão do rapaz Machadinho, nascido no Morro do Livramento, no Brás Cubas, o das memórias póstumas. Cito:
A conversão de Machado à descrença envolve a afirmação de outra forma de crença: a da força criadora do seu gênio, que [em 1878] esfrega os olhos, acorda, sacode as ruminações de uma longa apatia, o torpor do medíocre Machadinho, tão comedido e bem-comportado até então, verdadeiro prêmio de virtude. Naqueles seis meses de 1878, precipitou-se uma conversão à ironia livre; Machado de Assis, de si para si, chegou decerto à convicção de que, para criar em verdade e vida, devia obedecer sem restrições ao imperativo de expansão plena que, dentro dele, reclamava os mais desafogados direitos de ousadia.
O jovem escritor provinciano não quer receber lições didáticas do futuro mestre lusitano, então a se enrascar no Naturalismo do francês Émile Zola. Está adquirindo foros de inspetor de alfândega. Na qualidade de inspetor, ele examina o objeto importado pela Livraria Garnier e, com os seus botões, reflete. Introspectivo o senhor inspetor. Quer saber se a circulação do romance português por entre os brasucas representa algo de forte para a ainda precária tradição literária que se arma e se movimenta na antiga colônia e então, depois da Independência, nação autônoma sob o domínio dos Bragança e, por cima de tudo, ainda escravagista.
Será que, com esse produto, o Eça não vai querer subjugar o estilo pátrio pelo peso do poder eurocêntrico da nova escola literária parisiense? E o pior é que, por tradição às avessas, ou seja, por querer ser novidadeiro, um jovem cidadão brasileiro o toma como mestre-escola. Refiro-me ao maranhense Aluísio Azevedo, autor de O mulato
O inspetor de alfândega opta por dar fala aos próprios botões: Vamos todos refletir sobre a matéria. Vale ou não vale a pena aceitar O primo Basílio entre nós e, de graça, oh! doce ingenuidade, assimilar os princípios da nova escola literária francesa. E ele passa a redigir o seu relatório alfandegário, oops! a sua resenha do romance, sem proibir – isso nunca – a entrada do objeto no Brasil.
Imitação não é mais o nosso forte. Lembre-se da primeira missa rezada em terra tupiniquim. Caíram todos como patinhos, e deu no genocídio que deu.
Os botões se calam. Fala o inspetor alfandegário. Será que Eça cria figuras humanas sedutoras e definitivas, em nada semelhantes a “títeres” manipulados pelo
autor? Será? Será que o criador inventa grandes figuras dramáticas, ficcionais, dotadas do que o romancista brasileiro convenciona dizer que são levantadas da página impressa pela “força moral” que representam?
Quando desdobrado em leitor e crítico de obra alheia, o inspetor também se desdobra em detetive e é por isso que, ao avaliar o romancista e o quilate que as figuras humanas ficcionais recebem dele no processo de caracterização, analisa o passado de cada uma delas: “Haverá ali, naquela figura humana, alguma força moral?” – pergunta ele. Enfastiado na leitura que ganha o valor de experimento em matéria de aborrecimento, ele questiona o romancista naturalista, incapaz de criar grandes figuras humanas. E reclama, ao meio da leitura:
“Por Deus! Dê-me a pessoa moral da Luísa, esposa de um e amante de outro.”
O detetive não se interessa mais por se filiar a essa ou aquela escola literária. Quer um personagem ficcional redondo, como aconselha E. M. Forster. Machado já ultrapassou a fase do aprendizado e já tem os próprios valores enraizados. Interessa-se apenas por aperfeiçoá-los. E isso se faz com o que há de melhor e não com um coleguinha de turma.
O Machadinho não chega a ser um canibal, mas aspira a ser um lobo que se alimenta de cordeiros.
O inspetor alfandegário não brinca em serviço. Veja como, ao meio do livro, perde, de repente, a paciência e já força a barra. Anota umas frases no seu caderninho de observações e as copio:
A Luísa de O primo Basílio – força é dizê-lo –, a Luísa é um caráter negativo, e, no meio da ação ideada pelo autor, é antes um títere do que uma pessoa moral. Repito, é um títere; não quero dizer que não tenha nervos e músculos; não tem mesmo outra coisa; não lhe peçam paixões nem remorsos; menos ainda consciência.
A Luísa, idealizada por Eça como esposa de um e amante de outros, não tem consciência do que faz. Não há, pois, como lhe pedir a sustança das paixões ou dos remorsos. Ela é um títere imaginado pelo autor. Ou um robô imaginado por Stanley Kubrick, que tem a caracterização por padronagens. Um caráter negativo, em suma. E o leitor perspicaz que já fique à espera do suicídio como o grand finale do romance. Já não tinha dado outra
no modelo francês de triângulo sexual e amoroso. A Emma Bovary, de Gustave Flaubert, se suicida, Luísa também.
HAL 9000 não esperava por essa. A discórdia é tão barulhenta quanto uma britadeira na rua asfaltada.
A apreciação negativa da Luísa é menos a avaliação da pequeno-burguesa lisboeta (ou da Emma Bovary, a provinciana francesa de Flaubert); ela é mais a autoavaliação das personagens femininas cariocas que o autor da resenha veio criando como ficcionista nos quatro primeiros romances. São fraquinhos, a crítica brasileira tem razão. Em palavras menos nuançadas: na criação das suas primeiras heroínas, Machado enxerga os seus defeitos no defeito da criação da Luísa por Eça de Queirós. Cito a resenha (ou será que estou citando crítica de terceiro sobre os primeiros romances do Machadinho?):
Disse comigo: — Eça de Queirós tem faculdades de artista, dispõe de um estilo de boa têmpera, tem observação; mas o seu livro traz defeitos que me parecem graves, uns de concepção, outros da escola em que o autor é aluno, e onde aspira a tornar-se mestre; digamos-lhe isso mesmo, com a clareza e franqueza a que têm jus os espíritos de certa esfera (grifo meu).
Portanto, a análise machadiana de Eça, antes de discordar do trabalho ficcional alheio, é autocrítica do seu próprio trabalho de ficcionista, ou seja, a discórdia se endereça também aos seus quatro primeiros romances, já publicados. Retomo os deliciosos verbos de Augusto Meyer, já citados. O Machadinho do Morro do Livramento “esfrega os olhos, acorda, sacode as ruminações de uma longa apatia, o torpor de adulto medíocre, tão comedido e bem-comportado” e reabre os olhos e se enxerga como o Brás Cubas, um romancista plenamente qualificado para as ousadíssimas experimentações que virão nas memórias póstumas que irá escrever. Se Eça transporta o Naturalismo para a língua portuguesa, Machado inventa a moderna narrativa introspectiva na literatura lusófona. Em sociedade cordial e absurda, todas as formas de preconceito se fazem sentir mais intensamente na intimidade da cidadã e do cidadão. Se ainda não tiver o direito de cidadã ou cidadão, aí é o evidente. Só se descreve em literatura tal situação com a grosseria da caricatura. O ex-escravizado Prudêncio a chicotear em público o seu escravizado.
Machado-Eça, HAL 9000 teria de ser sensível ao que o autor brasileiro representa: um ruído que interrompe a continuidade absoluta entre o Norte e o Sul
No triângulo sexual e amoroso dramatizado nas memórias póstumas, a infidelidade da esposa, antes de ser uma traição ao marido, ou seja, em termos machistas e patriarcais, o bicho de sete cabeças do adultério, ela assinala positivamente a indispensável emergência do corpo feminino em ato de autonomia. Ao se tornar infiel ao corpo masculino sacramentado, o corpo feminino torna-se fiel a si mesmo e, de imediato, se qualifica para tomar as próprias decisões no cotidiano, monitoradas pela plena satisfação do seu prazer.
A Virgília – que se esboça antes de serem escritas as Memórias póstumas de Brás Cubas – não poderia ser uma viúva (como a Lívia, do romance Ressurreição) nem poderia ser mero títere do autor, como será futuramente o caso da Capitu. Ela é uma cidadã brasileira casada, dona do próprio nariz, do próprio corpo, da própria satisfação do desejo e do próprio destino. O romance machadiano tem a ver com os extremos em nada e em tudo conflitantes da sinceridade feminina – o amor-paixão stendhaliano ou baudelairiano.
A Virgília é vulgar e sublime, é ouro. Representa-se pelo padrão-ouro da “moeda de Vespasiano” (consulte o Google, pra isso ele vale), na economia política atual dos sentimentos íntimos femininos, a do Corpo e a do Sexo. Cito detalhe do
capítulo 152 e adio para outra conversa com HAL 9000 a leitura deste trecho:
Virgília traíra o marido, com sinceridade, e agora [quando o cadáver dele baixa à sepultura] chorava-o com sinceridade. Eis uma combinação difícil que não pude fazer em todo o trajeto; em casa, porém, apeando-me do carro, suspeitei que a combinação era possível, e até fácil. Meiga Natura!
Lobo Neves será o marido da Virgília. O Brás Cubas, para grande espanto do leitor brasileiro, será o amante que narra e protagoniza o romance, atividades superiores de narrador e de protagonista que o pobre primo Basílio não chega a assumir, outro títere do autor.
Para responder à pergunta sobre a discórdia, que lhe fiz, o HAL 9000 teria de ser sensível ao que a atitude de Machado representa num sistema contínuo. Um ruído discrepante que interrompe a continuidade absoluta entre o Norte e o Sul do planeta. Entendendo-a enquanto tal, a discórdia é, contraditoriamente, na sua negatividade afetiva em relação a um colega das letras portuguesas, um valor positivo e produtivo em favor das letras lusófonas.
O sistema digital é praticamente insensível a esse ruído.
A discórdia – conflito, desentendimento ou divergência, diferença de opinião, de valores ou de interesses – é ruído perturbador na comunicação. Nos dois sistemas de comunicação que estão em jogo nesta nossa conversa, o analógico e o digital, o menos sensível ao ruído é o digital. E o analógico, sendo expressão da continuidade, passa a detectar com ouvidos-de-ver todo e qualquer barulhinho ou barulhão que vira pedra no meio do caminho.
O corpo levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima.
Em matéria de saber, não sei se a imunidade do sistema digital ao ruído seja tão positiva no enriquecimento do saber humano. Na grande crise de 1878, uma vez mais o Machadinho nascido no Morro do Livramento se faz profético.
No sistema digital, a imunidade a interferências eletromagnéticas indesejadas, os ruídos, evita falhas ou erros de funcionamento na comunicação. Aí reside a sua glória atual e o nosso padrão mental medíocre. Também aí reside a sua derrota e a nossa redenção pela curiosidade que força a barra das padronagens. Graças às falhas e aos erros, aos ruídos, graças à discórdia, é que o sistema analógico cria a vacina que lhe propicia a imunidade, que não é artificial. Vacina tão produtiva e positiva quanto a do primeiro ser humano.
O pomo de ouro se torna não mais o motivo para a guerra de Troia, mas a razão de ser da tradição humana analógica. Ela é enriquecida semanticamente pela curiosidade que fomenta a crítica da invenção alheia e a autocrítica da própria invenção. A autocrítica que transforma os erros e as falhas do Norte em continuidade analógica da imaginação humana planetária
1. Não é gratuito o emprego do termo usado na indústria da impressão de tecidos noutra indústria, aliás, mais lucrativa, a da impressão de narrativas por padrões modelares pela Epson.

Texto de Wagner Rosa Ilustração de Arthur Starling
Nasci aqui, numa grota úmida entre os campos, enraizei-me devagar neste chão até que, ainda menino, aprendi a inspirar o ruço antes do café. Recordo a primeira tempestade que me encontrou: trovoadas distantes, cheiro de terra virada, e, de repente, o estalo ardido de um raio rasgando o pinheiro do quintal. Eu tremia, mas fiquei atrás da porta, hipnotizado pelo fio d’água que escorria da casca fumegante. Foi ali que descobri que o coração da serra é um músculo mineral que pulsa em gotas. Se a serra emudecer, se cessar o pranto, não secará só o morro verde diante dos meus olhos… a planície inteira sufocará. Tic… tic… o pingo que cai sobre a pedra do quintal bate o compasso deste causo.
Dizem os velhos pajés que amantikira quer dizer “gota de chuva a cair da montanha”. O idioma tupi, mais antigo que nossas cartas topográficas, batizou o que a geologia confirmaria séculos depois: a serra é um corpo poroso, entrecortado por fraturas, capaz de destilar a própria seiva. Em dias quentes, basta descer pelo mato para encontrar uma língua de neblina suspensa no ar, como se o granito exalasse suor. Entre maciços erguidos, falhas e fendas de lava solidificada, placas ainda se acomodam. O cheiro do solo ao amanhecer é uma mistura de líquen, ferro e mandioca crua, que faz lembrar que tudo aqui fermenta. Quando a chuva cai, a água penetra nas fissuras, recarrega camadas de quartzito, depois reaparece em fios tão finos que só quem encosta o ouvido ao musgo distingue o sussurro.
Quando a luz amansa ao majestoso cair da tarde, saíras, beija-flores, tangarás-dançarinos, sabiás-laranjeira e papagaios-de-peito-roxo traçam órbitas rasantes, sorvendo gotículas suspensas como notas de cristal. Assim começa a partitura hídrica que, descendo a encosta, vira canção de córrego, ensaio que antecipa rios capazes de saciar cidades inteiras. Tic… tic… a música muda; agora entra o metal.
Quando o ouro enlouqueceu as coroas portuguesas – e, por tabela, outras cortes da Europa atlântica –, ninguém ousou rasgar uma estrada franca pela Mantiqueira. Preferiu-se aproveitar a malha viva de caminhos indígenas e as gargantas do Embaú, Buquira e Piracuama, trilhas antigas que se moviam com a estação, evitavam o fisco e dissolviam rastros. Nas noites de garoa, tropeiros improvisavam abrigos encostando couros de boi às paredes úmidas do desfiladeiro; o cheiro de couro molhado misturava-se ao de brasas úmidas; e a conversa deslizava entre dialetos paulistas e mineiros, enquanto dragavam o feijão com farinha. Carregavam pepitas escondidas no farnel, pagando a contragosto a dízima combinada nas Guardas da Coroa, mas só a parte declarada; o resto se perdia no labirinto de trilhas sem marco. O silêncio nas atas oficiais era parte do lucro, quanto menos se escrevia sobre os atalhos, mais precioso o ouro sem registro, mais fértil o comércio de corpos. A montanha, entretanto, devolvia resistência. Quilombos brotavam em fendas inalcançáveis, aldeias de fala mestiça faziam roças de
milho-miúdo para sustentar quem fugia. Entre o tilintar das bateias, persistia, ao fundo, o gotejo da serra a lembrar que o metal corrói mais do que enriquece. Tic… tic… escuto o pingo vencer o baque surdo das cargas de dinamite que, dia após dia, rasgam novas frentes na montanha, como se ela já não guardasse cicatrizes suficientes.
Cansada de servidão, a serra reinventou-se guardiã. Quilombolas, tropeiros arruinados, tuberculosos com febre nos pulmões; todos vieram, todos encontraram abrigo. Foi então que conheci Isaura e Jorge. Ela, de lenço púrpura, rasga folhas de arnica e extrai delas um verde pungente que esfrega nos próprios pulsos antes de tocar as plantas. Ele, com uma velha e pequena faca, abre sulcos em caixas de contenção d’água feitas de bambu, devolvendo o filete ao leito antigo. Isaura lida com feijão-guandu: semeia-o depois da lua minguante, certa de que a leguminosa “aduba” o chão e o deixa mais forte. Jorge anota a altura da lâmina d’água do regato e, nas margens, ergue cercas vivas com estacas verdes que rebrotam. Mais acima, um jovem que se diz parente dos Puri guia voluntários num mutirão de “plantio de água”: garrafas plásticas furadas gotejam sobre mudas de pinhos-bravos e de araucárias, ensinando paciência ao desmatado. Descendo a encosta, uma produção de mel silvestre, onde abelhas sem ferrão trabalham num zumbido que parece oração. Enquanto isso, Campos do Jordão, a velha cidade-sanatório que,

com algum respaldo científico de seu tempo, propagandeou o “ar de ozônio” como cura, ainda ostenta a promessa. Mas quem fica sob os pinheirais descobre que a verdadeira farmácia é conjunta: o perfume resinoso do ar, a seiva das ervas e o canto da água, tudo no mesmo compasso. Tic… tic… agora o pingo cai sobre folha larga, produzindo timbre de concha.
Emprestando altitude, a serra virou laboratório de sabores. Queijos curados, virados à mão todo santo dia para que aflore fungo azul-prateado; cafés secando em terreiros suspensos, exalando perfume de melaço; vinhos de uvas meticulosamente colhidas no inverno; azeites de olivais encolhidos pelo frio, pungentes como vento de junho; cogumelos brotando em toras de eucalipto sob a bruma, guardando gosto de terra molhada; e uma constelação de múltiplos frutos que tingem o orvalho de âmbar e rubi. Sobre a tábua de pinho, a faca penetra a casca rendada do queijo e encontra massa amanteigada. A primeira mordida pede colherada da geleia de amora, em que o doce-azedo resume a constante convivência entre memória e conforto, já um fio de azeite verde acende o brilho e faz a boca lembrar do sol que madruga tarde por aqui. Mas paladar não basta para conter a fome vil. Em resposta, surgem pactos de pagamento por serviços ambientais, roças de toco em agroflorestas lideradas por mulheres, reflorestamentos financiados por padrinhos urbanos que adotam nascentes. Uma coalizão de caboclos, engenheiros, artistas e rezadeiras prova que a serra é organismo mutante. Frágil, sim, mas dotado de inteligência coletiva. Tic… tic… o pingo ensaia intervalo mais longo: incerteza no compasso. Anoto no diário o que Isaura me confidenciou ao amanhecer: “Há dia em que a água some do tanque antes da hora da horta. É a montanha nos avisando, mas a planície não escuta”. Jorge levanta o
bule sobre a boca do fogão, o vapor sobe sem pressa, quase súplica. Silêncio. O gotejo cessa. A floresta prende a respiração: nenhuma rã no brejo, nenhuma asa riscando o ar. Sinto o batimento do próprio tímpano, até a cinza da lenha parece suspensa. Então Isaura aperta contra o peito a última cabaça cheia, gesto que faz ranger o couro seco da correia. Logo o som retorna, primeiro distante, depois nítido: tic… tic… ainda há tempo. Quem vive na planície superpovoada depende da gota que nasce aqui em cima. Proteger a Mantiqueira não é excentricidade serrana, mas pacto mínimo de quem deseja continuar bebendo, plantando, cantando. A montanha não pede aplauso nem autorretrato vaidoso: quer simplesmente continuar pingando. Tic… tic… tic…
A lenha estala sob o tacho de cobre quando o xarope de frutas vermelhas engrossa: é nesse instante que o doce recebe a gota de limão e se torna rubro, translúcido, disposto a escorregar sobre o queijo recém-virado. O gesto é antigo como a serra; atravessou gerações de mãos que reconheceram, no equilíbrio entre acidez e doçura, a mesma lógica que faz a Mantiqueira chorar para, logo em seguida, gerar renovo. No pátio ao lado, o cheiro escuro de pinhão sapecado lembra que a araucária, árvore relíquia, tem por aqui o estatuto de guardiã. Cascas estouram como pequenas explosões, libertando um vapor castanho que cobre o casebre de pau a pique entre montanhas e sela a memória de quem chega. No coração da vila, a folia de reis do seu Barrinha percorre o calçamento de paralelepípedos, arrancando cânticos e prendas a cada esquina. O pandeiro marca o compasso, enquanto a voz grave dos violeiros reverbera em gargalhadas e estalos de repique. É nesse cortejo de luzes e poeira dançante que o passado brota como presente, desenhando no ar a forma orgulhosa de um povo montanhês.
Em Luminosa, encontro dona Gilinha, vizinha de Isaura e guardiã de velhas receitas, tirando broa de milho do forno de barro. Ela fala em “guardar o calor” como quem preserva segredo de família: diz que o vento da noite esfria a massa se a porta do forno não for lacrada com barro fresco. Ao quebrar a broa, ouve-se o estouro da crosta fina. O miolo morno esfarela no prato de quirera com cortes macios de porco caipira, prato que veio no lombo de tropeiro e ficou morando nas cozinhas de lenha. Ela me pergunta se o mundo lá embaixo ainda sabe que comida também é território. Em outro eixo, na Tabatinga, seu Ambrozio ergue uma pequena casa de sementes. Prateleiras de madeira acolhem envelopes marcados a lápis: feijão cangatã, tomate-de-árvore, milho-roxo. O jovem, indígena de alma, mostra garrafas PET penduradas sobre as mudas: cada furo libera, gota a gota, o “remédio da terra”. Quando pergunto há quanto tempo fazem isso, ele sorri, dizendo: “antes de todo mundo medir carbono, a gente já plantava água. A conta da serra nunca foi de número, foi de cuidado”. O pingo que cai do gargalo de plástico faz eco ao ritmo que vem do início dessa história e percebo que o tempo nessa montanha não corre em linha, mas dança como nascente teimosa que insiste atravessar cada camada de granito.
Se o gotejar da Mantiqueira silenciar, o mundo inteiro sentirá o eco seco de cada gota perdida. Não se trata apenas de guardar nascentes, mas de manter vivo o pulso das cidades, dos campos e dos oceanos. Cuidar de um riacho é erguer uma bandeira de esperança, recarregar nascentes e sonhos e re-imaginar nosso lugar no mundo. Somos herdeiros dos povos que aprenderam a ouvir o sussurro do musgo, cocultivadores de vida em cada nascente. Tic… tac… tic… tac… – nenhum ponteiro marca esse compasso, apenas a gota que insiste
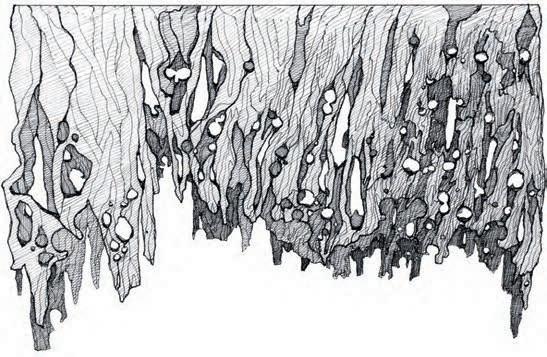
Texto de Miguel Lago Ilustração de Arthur Starling
“Assim como a ferrugem é para o ferro, e os cupins e as cracas são para a madeira princípios de corrupção que lhe são naturais, pelos quais esses materiais, mesmo que escapem a todos os danos externos, se corrompem por obra de tais agentes congênitos do mesmo modo, para cada constituição política, está conectado, por natureza, um determinado vício congênito: para a realeza, a tendência denominada monárquica; para a aristocracia, a conectada à oligarquia; para a democracia, o domínio selvagem da violência.”
— Políbio, História, VI, 10, 3
Há uma sabedoria amarga na analogia de Políbio. A corrupção das formas de governo não se dá, segundo ele, somente por agressões externas – invasões, revoluções ou choques inesperados. A corrupção vem de dentro, como ferrugem que consome o ferro, ou como cupins que devoram a madeira. A democracia, nessa chave, não seria minada apenas por seus inimigos declarados, mas também por desvios que se instalam no seu interior como continuação de seus princípios fundadores. É justamente esse o perigo que enfrentamos hoje: o da democracia-cupim.
O cupim não aparece de uma vez. Ele chega devagar, quase imperceptível. Come pelas bordas. Instala-se nos vãos que deixamos abertos. Avança nas sombras. E, quando percebemos, já é tarde demais: a estrutura ainda de pé, mas a sustentação já foi. Assim também as democracias contemporâneas: mantêm o calendário eleitoral, conservam os rituais parlamentares, preservam os prédios e as togas. Mas o ethos democrático – o compromisso público com a pluralidade, a escuta, a reciprocidade entre governantes e governados –, esse vai sendo lentamente consumido.
A democracia-cupim não rompe com o Estado de Direito; ela o esvazia. Não impede eleições; ela as transforma em plebiscitos de confirmação. Não censura formalmente; esgarça o conceito de liberdade esvaziando-o de sentido, precariza os espaços de expressão livre e mina os mediadores da palavra. A imprensa, os especialistas, os sindicatos e até os partidos são convertidos em simulacros: estão lá, mas sua autoridade foi roída por dentro. O que sobra é uma casca: o verniz democrático cobrindo uma ossatura corroída.
Essa forma de erosão – diferente do autoritarismo clássico – opera sob o disfarce da normalidade. Não há ruptura, mas acúmulo de deformações. É o que torna a democracia-cupim tão difícil de nomear e enfrentar: ela não gera indignação súbita, mas sim um cansaço gradual. Um esgotamento da confiança, uma desistência difusa do comum, uma aceitação passiva do que antes pareceria inaceitável.
A ideia de democracia-cupim remete àquilo que corrompe a democracia por dentro, sem alarde, sem ruptura explícita, sem tanques nas ruas. São agentes que se aproveitam das estruturas democráticas – o voto, o pluralismo, a liberdade de expressão, o direito de associação –para corroer os pilares que tornam essas estruturas possíveis. Em um cenário no qual os defensores da liberdade se tornam seus algozes e no qual os mecanismos institucionais funcionam como andaimes para projetos autoritários, a ameaça mais perigosa à democracia é aquela que se traveste de sua forma.
A tirania da maioria e a captura da democracia Um dos cupins mais insidiosos que corroem, por dentro, as estruturas da democracia contemporânea é aquilo que Alexis de Tocqueville, ainda no século XIX, chamou de tirania da maioria – uma patologia imanente ao próprio princípio democrático, que, em vez de ser superada pela modernidade institucional, parece ter encontrado, no contexto atual, um terreno ainda mais fértil para se proliferar. Essa tirania, que outrora se expressava como risco latente, hoje reaparece travestida de legitimidade popular, encarnada por forças políticas que se apresentam como defensoras da moral, da tradição ou da ordem – e que, sob os rótulos de “direita conservadora” (nada tem a ver com a direita conservadora do passado, e encontra muito mais paralelos com as extremas-direitas do passado), ingressam no jogo democrático utilizando, de forma plenamente legal, os instrumentos do sufrágio universal, apenas para, uma vez no poder, torcer suas finalidades, invertê-las, reconfigurá-las desde dentro.
Essa é, talvez, uma das formas mais sofisticadas de corrosão democrática: a que opera não pelo rompimento abrupto, mas pela inversão da finalidade; não pela negação das regras do jogo, mas pelo uso de suas engrenagens para fins contrários ao espírito que as justificava. Votam-se leis, elegem-se representantes,
construção inacabada, frágil, mas regenerável, que depende da nossa disposição de reencantá-la
mobiliza-se o discurso da maioria como escudo moral – mas o que se instala é a supressão progressiva da pluralidade, a recusa da escuta, o desmonte dos dispositivos que protegem os dissensos e as minorias. Os direitos não são expandidos, mas retraídos; as instituições não são fortalecidas, mas capturadas; o debate público não é animado, mas sufocado por uma ideia monolítica de “vontade do povo”, que, em vez de integrar, exclui; em vez de mediar, impõe.
Aqui se revela o nó da armadilha: confunde-se o ato de votar com a substância da democracia, como se a contagem aritmética dos votos pudesse, por si só, encarnar a justiça. Como se a maioria, apenas por sê-la, tivesse autorização moral para tudo. A democracia não é, nunca foi, apenas o governo da maioria. Seu coração está na combinação da soberania popular com a proteção inalienável dos vulneráveis. É a única forma de regime em que o poder da maioria deve, por princípio, ser limitado por direitos que não se submetem ao número. A democracia, em sua acepção mais profunda, é o único regime em que a força do número é contida pela fortaleza do princípio; em que o poder se exerce sob a condição permanente de respeitar aquilo que não pode ser sacrificado, ainda que por maioria. Quando essa equação se desequilibra – quando a maioria deixa de reconhecer seus próprios e passa a impor sua vontade em detrimento dos princípios de dignidade, igualdade e liberdade –, o que se instala é o desvio da forma: uma democracia apenas no nome, com aparência intacta e alma corrompida. Uma madeira que ainda se sustenta, mas que, por dentro, já foi comida pelos cupins da intolerância, da exclusão e da falsa unanimidade.
Não se trata de uma hipótese. Basta observar o panorama das democracias liberais nas Américas e na Europa. Os proponentes dessa nova tirania da maio-
ria têm vencido eleições e ocupado, com frequência alarmante, o centro do poder político. Os Estados Unidos testemunham a acelerada destruição do estado administrativo e de constantes violações de direitos humanos desde o retorno de Donald Trump. O Brasil foi governado, até recentemente, por Jair Bolsonaro, cuja retórica antidemocrática, violenta e misógina era acompanhada de ataques sistemáticos às instituições republicanas. A Argentina hoje é governada por Javier Milei, que ataca a ideia de Estado, se coloca contra a noção de justiça social e reconfigura a gramática do poder com base em uma lógica antipolítica e profundamente excludente. El Salvador está sob o controle de Nayib Bukele, que, com esmagador apoio popular, reescreve as regras institucionais à sua imagem e semelhança. Na Europa, a Itália é governada por Giorgia Meloni, herdeira direta do Movimento Social Italiano – repositório do fascismo italiano do pós-guerra. Viktor Orbán parece inamovível do seu trono na Hungria. Nos demais países, vemos os partidos de extrema direita ganhar cada vez mais força e constituir blocos parlamentares capazes de inviabilizar a governabilidade em países como a França ou a Alemanha.
Esses líderes não compartilham exatamente o mesmo programa – existem importantes diferenças entre a extrema direita americana e a extrema direita europeia, por exemplo. De um lado, temos demolidores, que destroem o Estado administrativo; do outro, soberanistas, obcecados com a securitização das fronteiras. Mesmo assim, o ponto de convergência entre essas duas extremas-direitas é claro: a recusa do princípio de igualdade entre os cidadãos. A negação do princípio vigente desde a Revolução Francesa de que os seres humanos são iguais. Seja por raça, religião, origem nacional, gênero ou orientação sexual, o pressuposto que une essas forças é a
crença de que nem todos merecem os mesmos direitos, nem todos têm igual valor político, moral ou jurídico.
É aqui que a noção de maioria ganha contornos perigosos. Essa maioria não é apenas eleitoral, fruto de uma circunstância conjuntural. Ela é construída, disputada e imposta como projeto político, cultural e religioso de longo prazo. O que está em jogo é uma tentativa ativa de constituir a maioria – não apenas de ganhá-la numericamente em uma eleição, mas de conquistar corações e mentes, de moldar identidades, de redefinir a norma social e política sobre quem pertence e quem deve se submeter. É isso que os diferencia das ditaduras conservadoras ou contrarrevolucionárias do século XX. Estas, muitas vezes, tomavam o poder pela força e o mantinham por repressão direta. Já os novos líderes da extrema direita querem ser populares. Querem falar à maioria, querem conquistá-la de maneira sólida e perene. Eles querem vencer eleições, consolidar hegemonias políticas e culturais e estabelecer a tirania não contra a vontade popular, mas com o seu aplauso.
Esse é o ponto mais insidioso da democracia-cupim: a corrosão do interior. A democracia segue existindo formalmente – há eleições, partidos, tribunais, parlamentos. Mas o princípio que lhe dá substância, a igualdade entre os cidadãos, vai sendo minado. Não por fora, mas por dentro, com argumentos de legitimidade democrática. O cupim não morde. Ele sussurra. E trabalha à noite.
O clericalismo republicano: quando a defesa vira prisão
Se a tirania da maioria representa um dos cupins mais visíveis da democracia, há um outro risco menos ruidoso e de outra natureza – o que podemos chamar de clericalismo republicano. Trata-se da tendência, diante do avanço de forças autoritárias, de reforçar as instituições formais da democracia como forma de contenção. Essa reação, embora compreensível e necessária, corre o risco de transformar a defesa da democracia em um ritual vazio, desconectado da vida social e emocional dos cidadãos.
Mas é preciso começar reconhecendo um fato incontornável: se ainda resta algo de democracia viva no mundo ocidental, é graças a essas forças instituídas que formam o coração do que chamamos aqui de clericalismo republicano. O Judiciário, sobretudo nas democracias
constitucionais como as do Brasil e dos Estados Unidos, tem atuado como uma linha de frente contra os retrocessos mais flagrantes. Não só as cortes supremas, mas também juízes de primeira instância, procuradores, servidores públicos –verdadeiras burocracias de nível de rua – têm impedido, com as armas do Direito e da técnica, que o edifício democrático desmorone de vez.
Essas estruturas funcionam como diques institucionais, formas de contenção, ainda que fragilizadas. Não são forças populares nem deveriam ser. Elas são instituídas, não constituídas: não emergem da vontade direta do povo, não mobilizam afetos coletivos, não têm carisma nem base espontânea. O Judiciário, por sua própria natureza, não precisa (nem pode) ter base popular. Sua missão é justamente proteger os direitos de todos, inclusive – e sobretudo – daqueles que não têm poder, nem voz, nem maioria. A legitimidade dessas instituições não está na quantidade de aplausos que recebem, mas na função que exercem.
Contudo, é nesse ponto que começa o problema. Se, no curto prazo, essas forças funcionam como anticupins democráticos, no médio prazo sua falta de conexão com o tecido vivo da sociedade se torna insustentável. O caso estadunidense é emblemático: mesmo com uma gestão catastrófica de Donald Trump, mesmo com o esforço hercúleo das instituições em preservar o Estado de Direito, mesmo com a recuperação econômica e a estabilidade técnica promovida por Joe Biden, o discurso da defesa da democracia já não era suficiente para garantir uma sucessão natural. Kamala Harris não conseguiu se projetar como herdeira legítima desse ciclo, e a mera evocação dos perigos autoritários não bastou para mobilizar corações e mentes.
No Brasil, o cenário não será diferente. Em 2026, a simples reedição de uma narrativa baseada na defesa da democracia como contraponto à extrema direita não surtirá o mesmo efeito. Isso não significa que a defesa da democracia deva ser abandonada – mas que ela precisa ser reconstruída, ressignificada, reencantada. Não basta mais repetir os dogmas republicanos, citar a Constituição ou acionar a liturgia institucional. É preciso devolver à democracia sua pulsação social, sua emoção popular, sua capacidade de gerar pertencimento.
O termo clericalismo não é aqui usado de maneira casual. A Igreja Católica
viveu, ao longo de séculos, um processo progressivo de burocratização e formalização de sua experiência espiritual Transformou o mistério em ministério. Substituiu o carisma pela instituição, o Espírito Santo pela hierarquia eclesiástica. Com isso, perdeu vitalidade, capacidade de conversão e diálogo com os dilemas do mundo contemporâneo. O excesso de normas, de dogmas, de rituais e o predomínio absoluto de sacerdotes, bispos, cardeais – todos eles atuando como guardiões de uma tradição cada vez mais esvaziada – fizeram com que a Igreja deixasse de ser espaço de encontro para se tornar uma superfície de manutenção. Em termos visíveis: há paróquias por todo o Brasil, mas missas cada vez mais vazias. As igrejas seguem vigentes, mas há cada vez menos Igreja. Conserva-se o edifício, mas perdeu-se a comunidade. Assim também com a democracia: mantêm-se as instituições, mas elas já não congregam, não se mobilizam, não encantam. E pior, em nome da defesa da democracia, temos que aceitar o regime dos partidos políticos, a cartorialização do voto e o fisiologismo mais abjeto.
O risco, então, é duplo: de um lado, a tirania da maioria, que quer destruir a democracia supostamente em nome do povo. De outro, o clericalismo republicano, que quer proteger a democracia sem o povo. Nos dois casos, chegamos a uma democracia-cupim, corroída por dentro, em que só sobra a aparência.
Democracia como tensão, não como repouso
A democracia, ao contrário do que sugerem seus detratores – e muitos dos que a defendem –, não é uma forma de repouso. Ela não é um estado de estabilidade a ser alcançado nem uma arquitetura pronta que pode ser conservada como se conserva uma catedral. Democracia não é forma pura: é tensão viva, conflito estruturado, equilíbrio sempre instável entre forças que precisam se conter e se convocar mutuamente. A democracia só existe na medida em que há essa conjugação ativa entre dois eixos fundamentais: o governo da maioria e a proteção inalienável das minorias.
Não é possível haver democracia com apenas um desses polos. A vontade da maioria, quando desacompanhada da proteção dos fragilizados, transforma-se em tirania, como já discutimos. Mas a proteção das minorias, se erigida como princípio absoluto em um sistema que
prescinde da participação popular efetiva, pode transformar-se em tecnocracia, em tutela, em esvaziamento da soberania. Assim como a democracia não sobrevive sem instituições, também não sobrevive sem movimento. Ela precisa de regras, mas precisa também de pulsação. Precisa de leis, mas também de laços.
Esse duplo movimento – o institucional e o vital – está em colapso. O que chamamos de democracia representativa está cada vez menos capaz de representar. Mas isso não significa que a representação esteja morta. Pelo contrário: nunca faltaram representantes carismáticos com capacidade de mobilização simbólica e emocional. A extrema direita está cheia deles – líderes que interpretam os afetos de parcelas significativas da população, que encarnam a angústia social, a insegurança econômica e a frustração cultural. O que está em crise, portanto, não é a representação enquanto fato sociológico, mas sim a democracia enquanto prática política e horizonte normativo. O que precisamos hoje não é de mais representantes – é de mais democracia. É por isso que dois movimentos são urgentes.
O primeiro remete à dimensão institucional. Precisamos abandonar a ilusão de que o voto, por si só, sustenta a democracia. O voto é um mecanismo útil para definir governos majoritários, mas ele não dá conta de todas as dimensões da vida democrática. Ele é, aliás, o instrumento pelo qual a tirania da maioria se instala. Eleições podem legitimar governos autoritários, podem confirmar projetos antidemocráticos, podem sancionar violências simbólicas e materiais. Por isso, é preciso descentralizar o voto e multiplicar os dispositivos institucionais de deliberação e decisão popular.
Isso significa expandir os espaços de democracia direta, de consulta, de construção coletiva. O leque de possibilidades é vasto – de orçamentos participativos a assembleias cidadãs, de referendos vinculantes a jurados cívicos, de conselhos populares a plataformas de deliberação digital. Nenhum desses mecanismos é suficiente por si só nem há um modelo único a ser adotado. Mas todos apontam para a mesma direção: ampliar o campo de ação da cidadania para além do voto periódico e da delegação passiva. A democracia precisa de imaginação institucional. E de coragem para reorganizar o poder.
O segundo movimento é o de recuperar a vitalidade dos movimentos sociais.
Durante os primeiros anos das redes sociais, parecia que uma nova era de mobilização política havia começado. A conexão entre pessoas, a quebra dos monopólios de comunicação, a descentralização da voz – tudo isso indicava uma revitalização do engajamento cívico. Mas essa promessa não se cumpriu. As redes, que inicialmente facilitaram a ação coletiva, hoje a domesticaram. As plataformas digitais se tornaram o novo espaço da performance – e tudo, inclusive a indignação, passou a ser medido em curtidas, retuítes, seguidores. Os movimentos foram, aos poucos, se adaptando à lógica do algoritmo: quanto mais impacto simbólico, melhor. A política virou espetáculo, e a ação coletiva foi substituída pela estética da denúncia, da exposição, da viralização. Com isso, o vínculo se esgarçou, e a eficácia se perdeu. A lógica da rede devorou a lógica do território. A emoção virou simulacro. É urgente, portanto, desplataformizar a ação política. Isso não significa ser ludista nem rejeitar a tecnologia. Significa recusar a plataformização da mobilização, recusar a lógica da performatividade total, que esvazia o gesto de transformação concreta. Precisamos retomar a ação coletiva de base comunitária, reconstruir redes de solidariedade, articular formas de engajamento que produzam efeitos reais na vida das pessoas. Sair das telas, voltar às ruas, aos bairros, às escolas,
às associações de moradores, aos locais de trabalho. Voltar ao corpo a corpo, ao cuidado comum, à política que toca, transforma, interfere.
A democracia que queremos não nascerá da repetição do que já existe. Ela tampouco se salvará apenas com palavras de ordem ou com defesas abstratas do “regime democrático”. O cupim já está na madeira. A ferrugem já começou a corroer o ferro. O que nos resta é reconhecer que a democracia é sempre uma construção inacabada, frágil, mas regenerável. E que ela depende, acima de tudo, da nossa disposição de reencantá-la – com novas instituições, novos gestos, novas práticas de cuidado comum
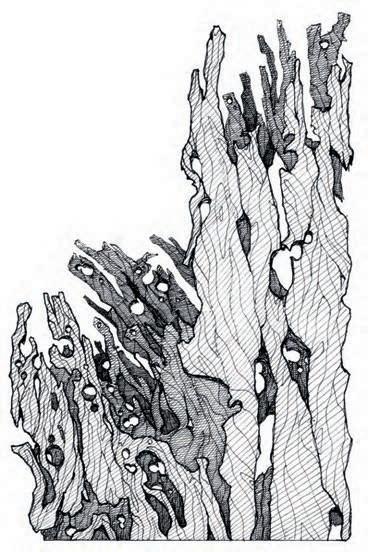

O
Texto de Livia Baião
Em março de 2025, Donald Trump publicou a ordem executiva intitulada Restoring truth and sanity to American History (Restaurando a verdade e a sanidade na História Americana), na qual critica o que chama um “esforço amplo e coordenado para reescrever a história de nossa nação, substituindo fatos objetivos por uma narrativa distorcida, guiada por uma ideologia, e não pela verdade”. Seu principal alvo é o Instituto Smithsonian, um consórcio de museus fundado em 1846, com 21 instituições sob sua responsabilidade, além de bibliotecas, centros de educação e pesquisa e o Zoológico Nacional.
Na ordem executiva, Trump determina que o vice-presidente J.D. Vance, em sua função no Conselho de Regentes do Instituto, trabalhe para eliminar conteúdos considerados ideologicamente impróprios ou divisivos e proíbe o financiamento para exposições que, segundo ele, “degradem valores americanos compartilhados” ou “dividam os americanos com base na raça”. A exposição citada no documento é The shape of power: stories of race and American sculpture (A forma do poder: histórias de raça e
escultura americana), em exibição no Museu Smithsonian de Arte Americana, em Washington D.C. Mas uma mostra em cartaz em outro museu na capital, o Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana (NMAAHC na sigla em inglês), inédita por sua abrangência internacional e magnitude, também está na mira da ordem executiva: In slavery’s wake: making black freedom in the world (Na esteira da escravidão: construindo a liberdade das pessoas negras no mundo). Ela trata das relações de violência, exploração e desumanização dos corpos e, sobretudo, das formas de resistência que os escravizados encontraram do outro lado do Atlântico para sobreviver à barbárie e preservar sua humanidade.
A mostra conta com mais de 30 colaboradores – incluindo quatro brasileiras: Aline Montenegro Magalhães, Keila Grinberg, Martha Abreu e Mônica Lima e Souza –, 100 objetos e 250 imagens de diferentes partes do mundo. Depois de ficar por seis meses em cartaz no NMAAHC, ela começa sua itinerância pelo Rio de Janeiro, marcando a reabertura do Museu Histórico Nacional (MHN),
em novembro de 2025, e segue para mais três países: África do Sul, Senegal e Reino Unido.
Na introdução do catálogo da exposição, o atual diretor do Instituto Smithsonian, Lonnie G. Bunch III, fornece munição para a ordem executiva: “Uma forte corrente de líderes políticos quer impedir que o público tenha contato com a história negra, considerada por eles ‘divisiva demais’, e promover uma cultura do silêncio”.
Trump e Vance assumiram as rédeas da nação em janeiro de 2025 e passaram a impor, desde seus primeiros dias de mandato, uma nova ordem nacional e internacional com uma fúria impressionante. Muito já se falou sobre os ataques às universidades, os cortes orçamentários, o antissemitismo e o posicionamento corajoso da Universidade Harvard, mas pouco se comentou sobre os museus e instituições culturais; portanto, vamos a eles.
Até agora, foram duas as instituições mais afetadas: John F. Kennedy Center for the Performing Arts, onde Donald Trump assumiu como presidente do Conselho e colocou vários de seus aliados em posições
relevantes, e o Smithsonian, com duas investidas principais: a mencionada ordem executiva e a demissão de Kim Sajet, diretora do National Portrait Gallery, que também fica em Washington D.C. e está sob a égide do Smithsonian. Primeiro diretor negro do Instituto, Lonnie Bunch tem sido incansável na sua missão de trazer histórias contra-hegemônicas para dentro dos museus. Sob sua liderança, o Museu Smithsonian de Arte Americana passou a dar mais ênfase a artistas negros, latinos e asiático-americanos, e o NMAAHC fez grandes avanços no sentido de reconhecer a opressão realizada pelo homem branco e celebrar as conquistas negras. Também sob sua direção, foram iniciados projetos para construção de duas novas instituições, uma focada na história latina e outra na história das mulheres, que recebeu atenção especial na ordem executiva: “não reconhecer homens como mulheres, em nenhum aspecto, no museu”, ou seja, não incluir pessoas transexuais no acervo.
Logo após a ordem presidencial, Bunch emitiu um comunicado dizendo que continuava “comprometido em contar as histórias multifacetadas do patrimônio extraordinário desse país” e tem se equilibrado entre desafiar e acatar ordens, permanecendo no comando do Instituto. Já Kim Sajet foi a primeira mulher a liderar a National Portrait Gallery e teve importante papel na ampliação das perspectivas da experiência estadunidense, afastando-se de uma visão centrada na branquitude.
Bunch esteve no Brasil em maio de 2024 para um ciclo de palestras sobre memória da escravidão, no Arquivo Nacional. Em sua fala, destacou a relevância de se entender a profundidade do impacto da escravidão na formação dos Estados Unidos para que o país possa “avançar enquanto nação”.
Museu, nação, poder e resistência Museus são dispositivos de poder, são campos de disputa pela sua relevância na fabricação de passado, símbolos e mitos, de fixação da memória e da identidade de uma sociedade e seus indivíduos. Museus foram e são fundamentais na elaboração da ideia de nação. A concepção moderna de museu nasceu no século XVIII associada à formação dos Estados-Nação e desempenhou papel fundamental na construção simbólica dos países então em constituição, edificando passados e heróis e difundindo narrativas épicas para povoar a memória da sociedade. Por muito tempo, os museus mantiveram-se à margem das demandas e dos
interesses populares. Eram os vencedores que ditavam suas exposições e eram retratados em suas galerias.
Na década de 1970, a partir de um importante evento na história da museologia latino-americana organizado pela Unesco e pelo Icom (International Council of Museums), a Mesa-Redonda de Santiago do Chile, houve uma reavaliação crítica sobre a forma como os museus lidavam com suas narrativas e discursos. Eles começaram a abrigar novas vozes, deixando de ser dominados por determinados grupos sociais, e se abriram para um público mais amplo. Museus comunitários, locais, de território e ecomuseus passaram a integrar o universo museológico, e novas perspectivas se fizeram presentes nos museus tradicionais. As narrativas totalizantes – muitas vezes totalitárias – e das grandes sínteses nacionais deram lugar a discursos fragmentados, descontínuos e multifacetados. A tríade fundadora do museu tradicional – edifício, coleção e patrimônio – deu lugar a uma nova: território, patrimônio e população. As instituições culturais tiveram de dar conta do passado de conivência com os legados coloniais, o saque de objetos e a perpetuação da desigualdade racial.
O Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro é um exemplo emblemático dessa virada. Foi fundado em 1922, sob o comando de Gustavo Barroso, a partir de um projeto que procurava consolidar um novo conceito para a nação. Havia ali o objetivo claro de contar uma história repleta de heróis, uma acentuada ênfase no seu aspecto militar, mirando um modelo de nação associado ao Império. Integralista de carteirinha, Barroso esteve à frente do MHN até 1959.
Um salto no tempo – 2001, uma pequena odisseia. Em comemoração ao Dia de Zumbi dos Palmares, foi inaugurada no MHN a exposição Para nunca esquecer: negras memórias/memórias de negros, com a curadoria de Emanoel Araújo. Em 2018, sob o comando de Paulo Knauss, o museu promoveu a exposição Brasil decolonial: outras histórias, com intervenções artísticas e museográficas para ressignificar seu acervo. Rosana Paulino, uma das pioneiras da nova arte negra brasileira e que faz uma ruptura radical com a história colonial, integrou o grupo de convidados para as intervenções artísticas. Quanto às interferências museográficas, por exemplo, as cadeiras de arruar (liteiras), elementos simbólicos característicos do período da es-
cravidão, sofreram uma mudança radical de enfoque, passando a privilegiar aqueles que transportavam, e não mais os transportados: os escravizados foram colocados no protagonismo da cena, reconfigurando o sentido do objeto, que deixa de ser visto como meio de transporte para ser exposto como símbolo de dominação e violência. Museus são dispositivos de produção de passado e de elaboração de memória, que, por sua vez, é calcada no esquecimento. Memória e esquecimento estão no cerne da construção da imagem de grupos, sociedades e nações. É através do compartilhamento da memória coletiva que estabelecemos nossos vínculos sociais. As políticas de memória estão irremediavelmente associadas às políticas de esquecimento. Para que as narrativas históricas possam celebrar “a grandeza de um povo”, muitas histórias são apagadas. Para que se cumpra a determinação da ordem executiva de enfatizar “a grandeza das conquistas e do progresso do povo americano ou, no caso de elementos naturais, a beleza, abundância e grandiosidade da paisagem dos Estados Unidos”, o próprio documento afirma ser necessário eliminar “descrições, representações ou outros conteúdos que depreciem de forma inadequada os americanos – do passado ou do presente (incluindo pessoas que viveram na época colonial)”.
No ensaio A mentira na política, Hannah Arendt se debruça sobre os Documentos do Pentágono para refletir sobre o embate entre verdade e política. Esses registros, publicados em 1971 pelo The New York Times, revelaram ao mundo a manipulação das informações por parte de todos os escalões do governo estadunidense sobre o que acontecia nos campos de batalha durante a guerra do Vietnã. De falsa contagem de corpos a relatórios de força aérea adulterados, muito se fez para justificar uma guerra insana e enganar o povo e o Congresso dos Estados Unidos.
A partir daí, Arendt nos lembra que os “seres humanos que agem, na medida em que se sentem mestres desse seu próprio futuro, serão sempre tentados a se fazerem mestres também do passado”. Trump quer se fazer mestre do passado, quer usar museus, patrimônio histórico e instituições culturais como aparelhos ideológicos. Ignora que esses espaços são muito mais do que lugares de memória, são lugares de resistência, que podem servir como campos de coerção, mas também de emancipação
Texto de GG Albuquerque Ilustração de Hana Luzia
Conhecido por participar dos reality shows De férias com o ex e A fazenda, o influenciador Rico Melquiades exibe a tela do seu celular para quatro senadores que o rodeiam na mesa diretora do Senado. Naquela manhã de maio, ele prestava depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito que tinha o propósito de investigar a crescente influência dos jogos de cassino e apostas online no orçamento das famílias brasileiras, sua possível ligação com organizações criminosas e o uso de influenciadores digitais para promovê-los Era a CPI das Bets, como ficou conhecida no noticiário Relatora da CPI, a senadora Soraya Thronicke curva-se sob a mesa para ver melhor o celular na tentativa de entender o que é e como funciona Fortune Tiger, o jogo do tigrinho, um dos mais populares jogos dos sites de cassino, que Rico demonstra apostando na prática. “Agora o tigrinho soltou a carta”,
diz o influencer Com voz de espanto, a parlamentar questiona: “O que é isso?”.
Enquanto os senadores em Brasília estavam totalmente alheios àquele vocabulário, a maior parte do Brasil estava muito bem familiarizada com ele Meses antes, em pleno verão de Salvador, ir à praia ou caminhar pelas ruas da cidade sem ouvir uma voz macia cantando os versos “Solta a carta, caralho, tigrinho filha da puta” era uma tarefa praticamente impossível A música era Resenha do arrocha, do cantor J Eskine, que rapidamente ultrapassou as fronteiras da Bahia. Depois de estrear nas plataformas digitais no dia 29 de novembro, a faixa viralizou e chegou ao topo da lista de músicas mais tocadas do Brasil nas primeiras semanas de fevereiro, pouco antes do Carnaval, quando seria consagrada de vez, fazendo multidões cantarem sobre as apostas no jogo de slots. “O tigrinho é muito popular.
Um assunto em alta, todo mundo conhece Por isso, Resenha do arrocha pegou tanto”, explicou J Eskine em entrevista ao portal g1 De fato, ele não estava sozinho Outros hits do pop brasileiro também citavam o jogo, como o batidão funk Oh garota, de Zé Felipe e Oruam (“Ô, garota, eu quero você só pra mim/ Vem com a bunda no dinheiro do tigrin”)
Os hits de J Eskine e de Zé Felipe com Oruam refletiam a entrada agressiva e alarmante dos cassinos e das casas de apostas online na sociedade brasileira, que vêm provocando uma “epidemia das bets”, como apontam relatórios de instituições financeiras e pesquisadores. Um estudo da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC), em parceria com a AGP Pesquisas, mostrou que 63% de quem aposta no país teve parte da renda comprometida com as bets Dos que apostam, 19% parou de fazer compras no mercado,
e 11% não gasta com saúde e medicamentos. Legalizadas desde 2018, as casas de apostas foram, em 2024, patrocinadoras masters de 15 dos 20 times de futebol da primeira divisão e estão onipresentes nas transmissões esportivas. Mas o tigrinho possui particularidades importantes, que o diferenciam, por exemplo, das apostas em esportes. Trata-se de uma espécie de caça-níquel controlado por algoritmos das casas de apostas. E, acima de tudo, é uma categoria de apostas mais populares entre as classes C, D e E, como revelou uma pesquisa do Serasa. O tigrinho foi citado por 40,2% dos entrevistados endividados das classes D e E quando questionados sobre os tipos de aposta que têm o costume de fazer ou já fizeram. A viralização desse jogo também ocorreu por uma estratégia de marketing bem elaborada, baseada em campanhas publicitárias feitas em parcerias com influenciadores, que despertaram a curiosidade das classes mais baixas com promessas de ganhos rápidos e fáceis apenas pelo celular.
Por conta desse panorama, as músicas que citam o jogo do tigrinho são comuns nos gêneros musicais mais populares: em especial, funk, sertanejo e arrocha. Algumas dessas canções fazem humor ou contam causos baseados numa ideia mais literal, como o sertanejo Thiago Brava em Tigrinho: “Eu dormi liso e acordei rico/ Apostei 50 no tigrinho/ Que virou mil, depois mais mil/ Aí a minha banca explodiu/ Será que eu pago a luz?/ Será que eu pago o gás?/ Pagar porra nenhuma/ Vou fazer o que o rico faz/ Hoje é só Heineken, hoje é só Heineken”. Mas a forma como cada estilo aborda o jogo é específica. Na voz de um MC, o tigrinho pode significar algo completamente oposto ao de um cantor de sofrência. Mais do que relatar o fenômeno social, político e econômico das bets, a música popular apropriou-se do tigrinho como metáfora em seu universo poético próprio.
Em Let’s Go 4, um trapfunk de 11 minutos que reúne 11 dos mais famosos de funk de São Paulo e foi a quinta música mais escutada no Brasil em 2024, os versos giram em torno de dinheiro, poder e sexo. No meio da faixa, o MC Don Juan canta:
Elas quer foder com nóis que é chefe [rico bem novinho
Banca silicone, só jogando no tigrinho Vai, novinha, desce e ganha presentinho
Na voz de Don Juan, o tigrinho vira símbolo de ostentação porque lhe confere o sta-
tus de torrar dinheiro em uma frivolidade como cassinos; alguém que gasta dinheiro por vaidade – o que vai ao encontro da imagem de grandes ídolos masculinos, como Neymar e o rapper canadense Drake, conhecidos por fazerem apostas milionárias na internet, algumas vezes em transmissões ao vivo. Essa poética do funk é atravessada por uma perspectiva masculinizada que atrela dinheiro e poder, e que se expande ao campo da sexualidade. Afinal, o homem que banca silicone e outros presentinhos (ou “patrocina”, na gíria do funk) estaria apto para comandar as dinâmicas sexuais com as suas várias mulheres.
Mas, se o arquétipo do gângster está presente no rap e no funk desde, pelo menos, os anos 1980, o tigrinho parece ser um elemento simbólico que integra um processo recente de transformação dessa figura em um presente onde o neoliberalismo caminha para dominar a imaginação poética e política. Esse cenário fica mais nítido no início de Let’s Go 4, com os versos do MC IG, que complementam o Don Juan:
E nóis segue firme, a madruga’ [contando nota
Enquanto o Pix vai cair como gorjeta
Ele tá clonando ou tá jogando roleta É bigode memo’, é o terror da Receita
Enquanto o discurso do rap e mesmo o do funk proibidão combatiam a polícia, o MC de funk agora posa como terror da Receita Federal, ecoando um meme das redes sociais que diz “quem tem medo de PM é noia, eu só tenho um certo receio com a Receita”. Imerso no discurso de coaches e de marketing digital, o gangsta tornou-se empresário, e os crimes dos bandidos deixaram de ser assaltos a bancos e agora são clonagens de cartão ou golpes em roletas.
No funk, a perspectiva é da malandragem que pratica o golpe e ganha dinheiro. Mas, nas músicas de arrocha e sertanejo, estamos do outro lado da mesa, ao lado dos otários e dos enganados. Não era love, cantada por Luan Pereira, Grelo e MC Tuto, narra a frustração de um homem que encontra uma menina “linda, perfeitinha, jeito de menina de família”. Encantado, ele a apresenta para os pais, passeia no shopping de mãos dadas e tudo. Até que um amigo o encontra e pergunta: “Quanto ela cobrou d’ocê? Ela fez duzentão pra mim”. O mundo desse homem cai por terra ao descobrir que aquela menina, “cara de amor da minha vida”, era uma prostituta. Os três cantores revezam-se no refrão chiclete:
Nem lá no tigrinho eu levei tanto golpe Eu me apaixonei pela mina do job
Era só roça-roça e não era love
Conhecido por letras que fazem humor a partir de temas delicados, Tierry ironiza uma traição romântica em Tigrinho, que compara a infidelidade com os riscos das apostas:
Vacilou, enganou
Judiou e traiu
Cê ganhou na loteria
E perdeu no tigrinho
Em ambas as músicas, o tigrinho surge como uma miragem fugaz: um objeto que brilha a distância, seduz com promessas grandiosas, mas se dissipa assim que se tenta tocá-lo. Mais do que símbolo de uma esperança frustrada, ele encarna a lógica das falsas promessas –aquelas que oferecem mudança de vida em troca de entrega total. Seja no amor ou na aposta, a armadilha é a mesma: acreditar que basta um giro de sorte, uma investida emocional para que tudo se transforme. O tigrinho, nesse caso, é menos a sua literalidade e mais metáfora da crença persistente no atalho, da disposição em se deixar enganar quando a realidade já não oferece saídas fáceis. Apesar do resultado desconcertante que emerge da catastrófica combinação entre precariedade e promessa de riqueza, na música popular brasileira não há qualquer indício de denúncia, revolta ou crítica social, mas sim um humor autoirônico, que ri diante do próprio revés e de seus anseios por seguir depositando sua fé em causas perdidas – ou, pior, em fraudes que sabem se disfarçar de esperança.
Por um lado, o tigrinho é um retrato da instantaneidade da era Pix e da legalização das apostas online, com as bets integrando o cotidiano brasileiro conforme o trabalho formal vai se esgotando e a CLT é demonizada. Mas os artistas não apenas incorporaram e reproduzem esse léxico – eles adicionam novas camadas de sentidos e possibilidades. As músicas não são sobre sorte, mas sobre as ilusões que fomentamos diante da precariedade. No funk, o medo de fracassar é transformado em performance de vitória e ascensão. Na sofrência do arrocha e no sertanejo, é a frustração desanuviada pela capacidade inesgotável e tipicamente brasileira de rir das próprias tragédias

Texto de Ernst Bloch Tradução e apresentação de Danilo Araujo Marques Ilustração de Hana Luzia
Em 1924, um filósofo alemão de origem judaica, nos seus 38 anos de idade, testemunhou quatro semanas de um estranho espetáculo. Seu nome, Ernst Bloch. Entre 26 de fevereiro e 1º de abril, o autor de O espírito da utopia acompanhou a cobertura quase diária que jornais dispensaram ao julgamento dos envolvidos no episódio ocorrido havia poucos meses, na noite de 8 de
novembro de 1923, em Munique. Inspirada na marcha dos fascistas sobre Roma em 1922, a tentativa de golpe que contara com a participação de oficiais do Exército alemão já havia recebido, àquela altura, toda a pompa de evento midiático. E, inclusive, uma alcunha que logo passou a figurar em manchetes por todo o mundo: Putsch da Cervejaria.
Ocorre que, para além do burburinho formado por repórteres, correspondentes internacionais e curiosos de toda ordem, que disputavam os assentos do tribunal improvisado no segundo andar da Escola de Infantaria Reichswehr para assistir ao julgamento dos “dez rebeldes de Munique”, Bloch tentava assimilar por outro prisma as notícias que chegavam da capital da
“revolucionária”
Baviera. Seu maior interesse estava em compreender o significado daquela novidade que irrompia nas franjas da República de Weimar. E tentar decifrar o enigma do movimento que crescia em número de adesões, sob o magnetismo de um personagem um tanto peculiar e cada vez mais conhecido: Adolf Hitler. Quando viu a figura entrar pela primeira vez no tribunal, o correspondente do Chicago Daily News, Edgar Mowrer, anotou: “Este dândi provinciano, de escuros cabelos ajeitados, paletó bem cortado, gestos desajeitados e língua destravada, que é o terrível rebelde? Para o mundo, ele parecia um caixeiro-viajante de uma firma de tecidos”. Apesar do grande interesse da imprensa, havia mesmo um sentimento compartilhado de que toda aquela conversa de tentativa de golpe em uma cervejaria não passara de um episódio burlesco – e até meio ingênuo. Mas Bloch resolveu ir na contramão dessa tendência em um ensaio publicado no número 15 do semanário Das Tage-Buch, de 12 de abril de 1924, poucos dias após o fim do julgamento. Sob o título A força de Hitler, ele logo alertou: “Não se deve menosprezar o inimigo, mas justamente compreender aquilo que o constitui como essa força psíquica que gera tanto fascínio”. Escrito “a quente”, como se diz no jargão jornalístico, esse é um ensaio que traz a marca da urgência crítica de quem reconheceu na ainda incipiente figura do líder nazista não uma mera aberração efêmera, mas uma força mobilizadora e profundamente ameaçadora. Longe de se satisfazer com a via muitas vezes fácil do desprezo, Bloch optou por levar a sério aquele novo fenômeno, com o objetivo de investigar a sua lógica interna e a forma como se apresentava no cenário político alemão. Para o filósofo, tratava-se do espectro invertido de uma
revolução perdida. A mesma Baviera que, não havia muito tempo, entre 1918 e 1919, fornecera as condições para a proclamação socialista de uma República dos Conselhos – forma de autogoverno defendida pela militante e filósofa Rosa Luxemburgo como a expressão espontânea da ação revolucionária – servia, então, como cenário para uma tentativa de golpe capitaneada pela extrema direita fascista. Como algo assim era possível? Bloch tentou responder à questão revelando a racionalidade perversa do nazismo: ainda que mobilizasse um conteúdo francamente reacionário, o partido e seu movimento assumiam uma forma “revolucionária”. Seja pela extorsão de símbolos da tradição socialista – como o vermelho das bandeiras e o próprio nome do Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães – ou pela postura e retórica insurgentes. Isso sem falar no apelo de emblemas e uniformes, capazes de encantar tanto a chamada ralé – entendida não na perspectiva econômica de classe, mas no sentido político de uma massa ressentida – quanto uma juventude órfã de identidade e senso de pertencimento após a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Hitler é descrito por Bloch como alguém capaz de reestruturar afetos e de conferir à ideia de uma pátria humilhada um novo brilho quase místico, inspirando uma seita facciosa. Ou como ele mesmo escreve: “uma tropa armada com um mito”, animada por “Térsites e Vansens da vida real” – dois sórdidos personagens saídos, respectivamente, das penas de Homero e Goethe. Trata-se de um texto de 1924, obviamente atravessado por referências de outro tempo e lugar; mas que, ainda assim, carrega uma espantosa atualidade. Basta uma primeira leitura para que logo se perceba a apresentação de temas que
soam tão contemporâneos: organização da extrema direita; reacionarismo como agenda política; sedução da juventude –em sua maioria masculina – pela gramática fascista da revolta; nostalgia de um passado idealizado; instrumentalização do ressentimento; banalização da violência; exaltação de um nacionalismo étnico; julgamento por tentativa de golpe… e, no meio disso tudo, a confusa experiência de um tempo vivido em uma brecha, uma encruzilhada, em que a referência do passado não é mais e o turvo horizonte do futuro ainda não é.
É certo que a história não se repete. Mas, como lembra o historiador Evaldo Cabral de Mello, ela costuma mandar recado. E é por conta dessa dobradiça de tempos históricos que a força de um alerta emitido há cem anos pode, muito bem, ecoar hoje – simplesmente como se houvesse acontecido ainda ontem. Não se atentar aos sinais é sempre uma possibilidade. Só que, nesse caso, o preço da banalização pode ser alto demais.
A força de Hitler foi reproduzido em 1934 no livro Erbschaft dieser Zeit (Herança desta época), sob o título Erinnerung: Hitlers Gewalt
A força de Hitler
No início, tudo aquilo era ignorado com frieza. Dávamos de ombros diante do avanço de uma canalha odienta e rastejante; diante de cartazes vermelhos com frases delirantes, mas com um soco-inglês escondido. Aqueles que, logo pela manhã, se aproximavam grosseiramente para exigir documentos e passaportes agora se organizavam em um partido. E a entrada era proibida a judeus. Mas tudo aquilo ainda podia sofrer algum tipo de revés. Era algo bastante estranho e ainda não havia criado raízes tão profundas. Ademais, a velha Munique ainda vivia. Foi ali que a oposição à guerra amadureceu pela primeira vez; foi ali que, há muito tempo, uma beleza forasteira foi trazida à paisagem urbana, para florescer com ela e se tornar nativa. A sombria lembrança de 1919 – do assassinato de Kurt Eisner e da entrada da Guarda Branca – ainda podia desaparecer, e a brutalidade recolher-se sobre si mesma, como se nunca tivesse acontecido. É verdade que o bem-sucedido golpe do nacionalista Wolfgang Kapp e a perseguição aos ministros socialistas anunciavam novas turbulências no ar. Mas, mesmo assim, isso ainda podia ser compreendido como
a reação do provincianismo de uma terra camponesa contra os amadorismos um tanto desajeitados de alguns comunistas. Hitler viu esse episódio como o canto do cisne; e quanto mais a República dos Conselhos (Räterepublik) ficava no passado, mais a Baviera parecia retornar à sua antiga fisionomia.
Em vez disso, como se sabe, aquelas terras foram se tornando, dia após dia, mais amargas. E, tanto quanto seus equivalentes da cidade, os camponeses permaneceram ali como a ralé: ignorantes, sugestionáveis, perigosos, imprevisíveis. As mesmas pessoas que haviam enchido as ruas no funeral de Eisner, e em muitos outros cortejos de luto, agora perseguiam até a morte os mesmos líderes de ontem. Da noite para o dia, lojas de bandeiras substituíram a estrela soviética pela suástica; da noite para o dia, o Tribunal do Povo, criado por Eisner, colocou o comunista Eugen Leviné diante do paredão. Foi então que a ralé infiel, usada e desprezada por todos os poderosos, começou a vacilar. E não apenas vacilava, como também revelava sua característica mais íntima: a caça a animais e a seres humanos. Não se tratava apenas de pequeno-burgueses arruinados, que estendiam a mão a qualquer meio de auxílio momentâneo; tampouco de um proletariado organizado ou mesmo organizável; nem sequer de um persistente lumpemproletariado. Tratava-se unicamente da ralé degenerada, a mesma criatura ressentida, ávida por ódio, vingança e crucificação que surge em todas as épocas. Ela sempre se deslumbra com as aparências: com os estudantes em trajes de gala, com a magia dos espetáculos musicais, das paradas e das procissões. Mas já faz muito tempo que a Baviera não pinta ex-votos. E os instigadores são tão ambíguos quanto a própria ralé – em muitos casos, até mais desprezíveis. Judeus húngaros batizados tornaram-se espiões a serviço de Hitler; “democratas” comprados, oriundos do estoque de jornalistas balcânicos, preencheram as fileiras. Os Térsites e Vansens da vida real não quiseram ficar de fora e forneceram à ralé uma sólida matriz. Mas quem se apega apenas a isso acaba não compreendendo o todo. A questão é muito mais profunda, e apenas nojo e sarcasmo já não bastam como resposta. Pois, muito além dos repugnantes olhares curiosos e cúmplices, arde no núcleo desse movimento uma juventude renovada, uma geração extraordinaria-
mente vigorosa. Rapazes de dezessete anos ardem de entusiasmo por Hitler. Já não são reconhecíveis aqueles estudantes de outros tempos: beberrões, entediados e satisfeitos com os vincos de uma calça bem passada. Agora, seus corações palpitam. O velho espírito nacionalista volta a se erguer; oficiais do século XIX comandados por Ferdinand von Schill renascem e reconhecem o paramilitar Schlageter como um irmão, enquanto ligas heroicas, com todos os sinais de conspiração irracional, se reúnem sob uma luz secreta.
Hitler, seu Führer, não mereceu a condescendência dos juízes nesse julgamento
“Ele insuflou um fogo quase enigmático
pátria e formou uma nova seita agressiva […], uma tropa armada com um mito”
farsesco; mas nem mesmo o sarcasmo dos advogados de Berlim conseguiu atingi-lo. E nem o próprio general Ludendorff – esse símbolo brutal e limitado de masculinidade – esteve à sua altura. Como tribuno, Hitler é uma figura altamente sugestiva e, infelizmente, bem mais enfática do que os verdadeiros revolucionários que convocaram a Alemanha em 1918. Ele insuflou um fogo quase enigmático à exaurida ideologia da pátria e formou uma nova seita agressiva: a semente de um exército fortemente religioso, uma tropa armada com um mito. E não é por acaso que seu programa continua a ter



força: promete libertar a Alemanha dos judeus, da bolsa de valores, da servidão dos juros do capital internacional, do marxismo internacional antipatriótico – uma música tão confusa quanto sedutora aos ouvidos do pequeno-burguês sem muito discernimento. Pois, aqui, a economia é empurrada para a periferia e a mentalidade estatista, reconduzida ao centro, ressoando novamente a música da velha disciplina antiburguesa e da ética secular das ordens de cavalaria. Por isso, não se deve subestimar a influência de Hitler sobre a juventude. Não se deve menosprezar o inimigo, mas justamente compreender aquilo que o constitui como essa força psíquica que gera tanto fascínio. Certamente há, aqui, muitas correlações com o radicalismo de esquerda, ainda que de natureza puramente formal e não propriamente de conteúdo. Essa afinidade (em geral, apenas uma cópia oportunista do socialismo, ajustada a instintos primitivos) facilitou ainda mais a troca de bandeiras por parte da ralé bávara. Tanto entre comunistas quanto entre nacional-so-
cialistas, convoca-se a juventude armada; aqui como ali, rejeita-se o Estado parlamentar capitalista; em ambos os casos, exige-se a ditadura como forma de obediência e comando, a virtude da decisão em lugar da covardia burguesa – essa classe confusa, eternamente perdida em discussões. Esse é, acima de tudo, o tipo de Hitler e daqueles que o seguem, os quais, do ponto de vista de uma categorização formal, se apresentam como intensamente revolucionários. Mas os objetivos e conteúdos dessa turba são claros: apesar de toda a confusão, trata-se simplesmente da expressão de uma vontade absolutamente contrarrevolucionária, retrógrada, proveniente de camadas sociais decadentes e de sua juventude. Os vinte mil dólares da indústria de Nuremberg já indicam o quanto a burguesia não se sente nem um pouco ameaçada com isso; e como, inclusive, encara, sem maiores receios, essa nova mística do Estado, aparentemente anticapitalista. Engels chamava o antissemitismo de o socialismo dos idiotas, no qual prosperam o capital
financeiro não judeu e, sobretudo, o capital fundiário.
Já o “socialismo dos cavaleiros”, esse anticapitalismo patriarcal e reacionário, é um mal-entendido ainda maior, ou, mais precisamente, uma fraude deliberada: usa a oposição ao capital financeiro para esconder uma aversão muito mais profunda ao socialismo. Nacionalismo étnico em vez de internacionalismo; mística estatal romântica e reacionária em vez da vontade de extinção do Estado; fé na autoridade em vez da anarquia final, latente em todo socialismo genuíno: eis os antagonismos absolutamente irreconciliáveis da vontade positiva, mais profundos do que aparentes afinidades de forma ou da mera rejeição comum ao atual estado de coisas. O sociólogo austríaco Othmar Spann – mero plagiador dos teólogos da Alemanha pré-revolução de 1848 – até tentou dar um conceito ao nacional-socialismo. Mas o que emergiu daí foi tão distante do socialismo quanto o é a idolatria romântica do Estado na seguinte frase do jovem Engels: “A essência do Estado, assim como da religião,
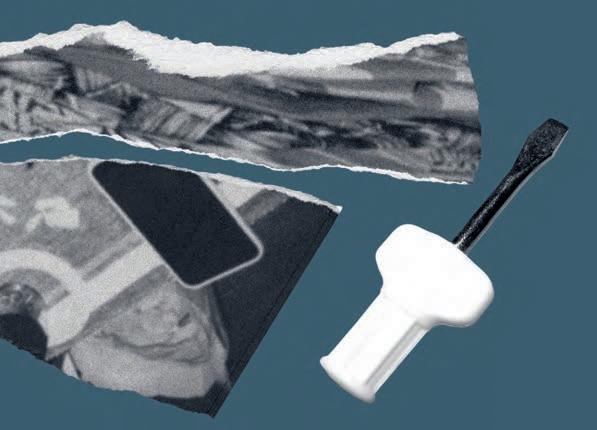
é o medo que a humanidade tem de si mesma”. O servo obediente, aquele que séculos de opressão feudal formou e depois abandonou, corre agora em desespero, como um predador domesticado que deseja retornar ao cativeiro. Agita sonhos messiânicos, mas os perverte com sonhos feudais e arcaicos; radicaliza um centro apático para transformá-lo em vetor de rebeldia ascética; e adota a ideologia da “rebelião” pela graça de Metternich, autor dos decretos de Karlsbad e guardião da Santa Aliança.
Para onde, então, toda essa inquietação nos levará? Três elementos devem ser considerados separadamente e já se apresentam em tonalidades bem distintas: (1) na base, corre a ralé pequeno-burguesa, que desertou do vermelho para o branco e que, cheia de ódio e ignorância, está sempre pronta para ser instigada; (2) acima dela, está a tropa de choque de Hitler e seus oficiais: uma juventude vigorosa, rude, contaminada pelo pano de fundo hediondo dos seguidores oportunistas, mas cujas intenções ainda são, em certo sentido, puras. Ela está enojada com a
era da especulação, com a depressão da guerra perdida e com a ausência de ideais desta república apática. O próprio Hitler acendeu – ou, ao menos, insuflou – um movimento nitidamente antiburguês na juventude burguesa; uma energia ascética que, em muitos graus, se distingue tanto da monotonia daquele primeiro entusiasmo bélico alemão quanto do pedantismo do antigo Partido Patriótico; (3) por fim, a ideologia e a prática do nacional-socialismo são profundamente traiçoeiras. Querem substituir a burguesia pela figura do cavaleiro; mas, no fim das contas, apenas fazem com que o burguês se sinta ainda mais protegido e preservado pelos jovens cavaleiros. E mesmo que estes pareçam mais humanos que o próprio burguês, na atual circunstância, ele é ainda mais irreal; mais abstrato, mais obscuro, um obstáculo à sua própria irrupção na realidade. Hitler, o hitlerismo e o fascismo são o êxtase da juventude burguesa. Essa contradição entre energia e burguesia, entre fascínio e o mais morto dos nacionalismos, transforma o movimento em uma assombração. E ela não se torna
mais real com os espectros feudais que carrega consigo; trata-se antes de uma aliança entre o entusiasmo intensamente contemporâneo e sonhos há muito esquecidos, como quimeras de cavalaria medieval e visões arcaicas de um reinado germânico popular do século X. Ainda assim, a juventude hitlerista representa hoje o único movimento “revolucionário” em atuação na Alemanha – desde que, por culpa dos líderes socialistas, o proletariado terminou privado da sua própria revolução, a única válida e isenta de contradições. Uma parte do fascismo na Alemanha hoje representa, por assim dizer, uma espécie de prócer torto da revolução, uma expressão do fato de que a atual situação social está longe de ser estática. Entretanto, os verdadeiros Tribunos do Povo estão ausentes – ou confirmam por si mesmos a sábia frase de Isaac Bábel: “A banalidade é a contrarrevolução”
Ernst Bloch, “Erinnerung: Hitlers Gewalt” (1924). Publicado no livro Erbschaft dieser Zeit. © 1973, Suhrkamp Verlag, Berlim. Todos os direitos reservados.
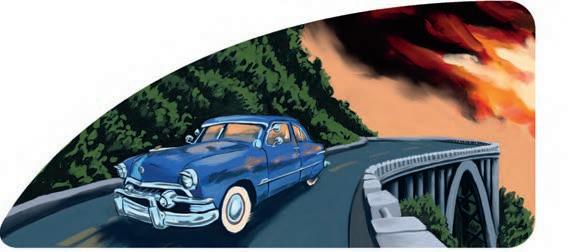
Memórias de estrada e estrada das memórias enquanto chamas que não apagam
Texto de Jeffis Carvalho Ilustração de Arthur Starling
A cidade de Praia Grande fica a pouco menos de uma hora e meia de São Paulo, na direção leste, pela Rodovia Anchieta. Cinquenta e sete anos atrás, a viagem de carro até lá nos leva por três cidades. Depois de passarmos por Cubatão, ao pé da Serra do Mar, e por Santos, chegamos a São Vicente. Dali, percorremos a icônica e bela Ponte Pênsil, sob o Mar Pequeno, uma das primeiras pontes suspensas construídas no Brasil, datada de 1914. É a ligação da primeira cidade brasileira (fundada em 1532) com o município de Praia Grande.
Em dezembro de 1968, sou um garoto que acaba de completar 10 anos e que olha pela janela do carro a famosa estrada que nos leva ao litoral sul de São Paulo. Vamos aproveitar o início das férias, e sigo junto com minha mãe e meus cinco irmãos para o novo apartamento de praia da minha avó. Estamos a bordo de um Ford Custom Deluxe 1951 ou 1952, do tio Antônio, conduzido por ele. Um carro importado, de cor azul-marinho, pintura fosca e frisos cromados nas laterais. O carro é bonito e impõe respeito, mesmo com mais de 15 anos de uso.
Nossa família é, então, o que hoje se pode definir de classe média remediada, com os dois pés na classe C, sempre se contorcendo para garantir presença nela;
ao mesmo tempo que ambiciona frequentar a B. Minha mãe, professora, dá aulas das 7 da manhã às 10 da noite na rede pública de Osasco, cidade industrial da Grande São Paulo, onde residimos. Meu pai, ex-chefe de cozinha de restaurantes e professor de caligrafia, tenta a sorte nos Estados Unidos, aproveitando os parentes que temos lá, e logo se torna mecânico especializado em restauração de carros esportivos na oficina do meu tio Jorge, marido da tia Ruth, irmã caçula da minha mãe – primeiro em Delaware e depois na Flórida. Nunca vai nos levar pra lá e trabalha por mais de 15 anos como restaurador de veículos da marca MG.
O nosso grande passatempo de férias é, claro, o litoral. Nos primeiros anos, rumo a Santos e, depois, o destino muda para o recém-emancipado município de Praia Grande – ao qual, em 1968, a gente chega pela praia mesmo, nem estrada tem, quiçá ruas e avenidas. Vamos com aquele outro tio, Antônio Henriques, marido da irmã mais velha da minha mãe. Tio Antoninho, como carinhosamente chamamos, é, em muitas ocasiões, a minha referência paterna, já que meu pai, longe, está sempre ausente. É dele o Ford Custom Deluxe e, em outros momentos naquela década, também uma Rural Willys, depois um Aero Willys. Com ele na direção, pegamos
a estrada sempre bem cedo, muitas vezes antes mesmo do nascer do sol.
Seguimos pela estrada, que é mais do que uma rodovia. A Via Anchieta é um símbolo profundamente enraizado na história e na cultura do estado de São Paulo. Desde sua inauguração, em 1947, a estrada desempenha um papel crucial não apenas como um eixo de transporte que liga a capital ao litoral, mas também como uma metáfora para o desenvolvimento e os desafios do progresso urbano e social.
A estrada
No imaginário popular do paulista, a Via Anchieta representa muito mais do que um caminho físico. A rodovia é frequentemente associada à ideia de progresso. Há décadas ela é vista como um exemplo do avanço técnico e da capacidade humana de superar desafios geográficos, especialmente diante das dificuldades impostas pela Serra do Mar. Sua construção é celebrada como um feito de engenharia, alçando o estado de São Paulo a um novo patamar de modernidade.
A Via Anchieta vai além e transcende seu papel utilitário. Ela é um símbolo do dinamismo de São Paulo, uma via que conecta diferentes realidades: o urbano e o rural, o concreto e o verde, o planalto e a praia, o trabalho e o lazer. É uma estrada que evoca histórias, emoções e até mesmo um senso de identidade. Para os paulistas, a Via Anchieta é mesmo carregada de memórias. Muitas famílias têm histórias de viagens feitas pela rodovia em busca das praias do litoral paulista, especialmente durante feriados prolongados ou férias escolares. Essas jornadas são frequentemente lembradas com carinho, mesmo

Desde sua inauguração, a Via Anchieta é crucial como eixo de transporte e como metáfora para o desenvolvimento e seus desafios
quando marcadas por trânsito ou espera.
E são as vivas lembranças, tomadas por um profundo sentimento, que afloram quando vejo, por exemplo, a imagem aérea da estrada. Com elas, vêm à tona as memórias de um tempo, um lugar. De um Brasil visto pela janela do carro.
O carro
Um carro revolucionário, segundo matéria do jornalista Felipe Bitu na revista Quatro Rodas. Um veículo que, afirma ele, salvou a Ford depois da Segunda Guerra Mundial, porque “incorporou avanços notáveis: a suspensão dianteira passava a ser independente; o sistema de direção como nova geometria; e a transmissão havia trocado o tubo de torque pelo eixo cardã. O novo carro era menor que o antecessor, mas oferecia maior espaço interno graças à eliminação dos estribos laterais e ao reposicionamento do motor (à frente do eixo)”. Além disso, destaca o jornalista, “a transmissão manual de três marchas tinha a alavanca na coluna de direção. Os freios eram a tambor, com acionamento hidráulico”.
O Ford chega aos consumidores americanos nas versões básica e Custom, com
carrocerias sedã e cupê. “O triunfo dessa primeira geração pós-guerra pavimentou o sucesso da Ford nas décadas seguintes”, conclui Bitu.
No final da descida da serra, na Via Anchieta, pela janela do Ford, a gente já avista Cubatão e toda aquele conglomerado petroquímico – e que, depois, vou associar aos filmes de ficção científica a que assisto na TV p&b. Nesse cenário, destaca-se uma grande torre, e, no alto dela, arde um fogo permanente. Desde quando me lembro, ainda com apenas 6 ou 7 anos, meu tio nos diz, e como sempre vai afirmar em toda descida da serra, e mesmo agora:
— Enquanto aquele fogo permanecer queimando e pudermos ver a grande chama que sai daquela torre, o litoral estará protegido.
Como assim? Isso mesmo, diz ele, se o fogo se apagar, o mar revolto terá ondas gigantescas e cobrirá toda a Serra do Mar chegando até perto de São Paulo. Durante minha meninice, essa será a minha crença no poder do fogo. Talvez a única crença
que terei na vida. A chama tem a força para controlar o próprio mar e impedir que o litoral desapareça como o conhecemos. Desse modo, a Serra do Mar fica em segurança. Uma serra, prima próxima da grande Mantiqueira, mesmo nem sendo efetivamente uma serra. Apesar do nome, trata-se de uma grande escarpa, e, para quem olha de cima do planalto, é como se ali estivesse um enorme penhasco de cerca de 700 metros de altura que despenca; já quando o avistamos pela perspectiva de quem está ao nível do mar, o que se vê é um enorme paredão. Não à toa, um dos grandes romances escritos sobre a epopeia dos colonizadores portugueses que aportam no litoral paulista e se lançam rumo ao Planalto de Piratininga chama-se exatamente A muralha, da escritora Dinah Silveira de Queiroz, publicado nas comemorações do Quarto Centenário da Fundação de São Paulo.
A minha crença viva, baseada na força das palavras do tio Antoninho naquelas viagens rumo à praia, nubla a minha tão autodeclarada racionalidade. Mas bastam apenas dois anos, comigo já no primeiro ano do ginásio, para que encontre o caminho da explicação razoável para além de qualquer mistificação. Sim, a chama queima e nunca se apaga em uma refinaria de petróleo. É o flare, ou tocha que queima, um sistema de segurança crucial para lidar com gases inflamáveis e explosivos que podem ser liberados durante o processo de refino. A queima contínua dessa chama garante que, em caso de liberação de gases, eles sejam queimados de forma segura e controlada, evitando a acumulação de gases perigosos e o risco de explosões ou incêndios.
Com 11 anos e meio, durante a Copa do Mundo em que nos tornamos tricampeões, descubro que a queima do flare é um processo contínuo e controlado, com a chama sempre acesa e pronta para queimar os gases liberados. Uma providência que faz parte do funcionamento normal de uma refinaria e age na prevenção e mesmo em emergências.
A estrada, o carro e o fogo. Na parede da memória, esse não é um quadro que dói. Muito pelo contrário. Evoca a mais forte e pura emoção de quem olha pela janela do carro e vê a própria história desfilar diante de si. Como escreveu Joan Didion, ícone do jornalismo literário estadunidense, “é uma espécie de ritual, que nos ajuda a lembrar quem e o que somos. E, para se lembrar, é preciso antes ter sabido”
Sobre enxergar o coração
distância,
Texto de Leonardo Piana
Ilustração de Arthur Starling
1.
Eles não têm medo de que você escale uma montanha. Mas temem que você escreva um livro. Temem que você conte as histórias em que tem se demorado tanto.
Eles não têm vergonha de te ver escalando. Mas têm vergonha de que você continue escrevendo. Que sua escrita revele uma parte secreta ou enevoada demais do seu coração. Não sabem que as montanhas também podem revelar uma parte camuflada em meio às pedras, ao vento e ao céu.
Visto de cima, o coração é minúsculo.
A escrita tem essa capacidade de constranger. As montanhas também.
Se lhes perguntassem, diriam que se sentem orgulhosos. Mas não que você escreva desta forma. Não que escreva estas histórias – de pessoas muito parecidas com você, muito parecidas com eles. Temem ver-se refletidos nelas e desejam o reflexo, embora não o digam. Você enxerga o desejo nas entrelinhas da pergunta: sobre o que você está escrevendo?
Sobre vocês.
Eles não vão ler seus livros. Vão se esquivar do assunto, que, de vez em quando, vem à tona, quando questionados. É melhor não falar. É sempre um risco, uma decisão de vida ou morte.
Você está escrevendo sobre as montanhas, poderia responder. O que é verdade, mas também esconde tantas coisas. Um lugar para ver o fim do mundo.
2.
Você cresceu olhando para as montanhas. Diz que morreria aos seus pés, se pudesse escolher um lugar para morrer. Elas te dão esta certeza miserável da sua miudeza e da sua brevidade. Elas, sim, vão permanecer.
(Visto de cima, um coração. Minúsculo.)
Quando pode, você aluga uma casa para se esconder em Gonçalves, você escala rochas em São Bento, passa carnavais em Córrego do Bom Jesus e dirige pela estrada que corta o sul de Minas Gerais, do Vale do Sapucaí até o Vale do
Paraíba. Você cresceu na Serra do Pau D’Alho e está comprometido a aprender os desvios da Mantiqueira.
Os mares de morros insistem em aparecer nos seus escritos, a geografia sendo também protagonista das histórias que tem para contar.
Você se apaixonou por um geógrafo, aliás, e, nos breves lampejos quando ele destila seu conhecimento a respeito do assunto, você se apaixona outra vez. É fácil amar quem sabe da terra.
No primeiro dia, ele disse que, durante a adolescência, passava muito tempo olhando para o Pico dos Marins, e você se sentiu mais perto do coração dele. Observar o que não se move exige certo encantamento. Você tem de estar vulnerável.
3.
Eles pensam que escalar montanhas tem mais a ver com força do que com vulnerabilidade. Enganam-se.
(Minha vulnerabilidade é o meu poder, diz Ocean Vuong.)
Se você for mesmo um escalador, não pode se esquecer disto: estar vulnerável.
Se você for mesmo um escritor, não pode se esquecer de encontrar poder na vulnerabilidade.
4.
Em março de 2024, você se mudou de volta para o sul de Minas. Meses antes, enquanto esperava o resultado do concurso público que tinha prestado, te fascinava a possibilidade do regresso a qualquer lugar perto de onde cresceu. De certa forma, voltar a essa região se traduzia como uma chance de regressar às lentes através das quais escreve, à moldura criada pelo menino assistindo à serra verde no banco traseiro de um carro qualquer, o corpo balançando de um lado para o outro numa estrada serpenteante. É a moldura que lhes interessa, e não o que está dentro dela.
Na moldura está escrito: “Hoje sou funcionário público”.
Dentro dela: “Andradas é apenas uma fotografia na parede”.
Mas como dói!
5.
Você escala e escreve através das mesmas lentes.
Agora está tentando observar à distância aquilo que escreveu, que está escrevendo ou que pretende, um dia, escrever: o fim do mundo imaginado por um menino, numa família muito diferente da sua, numa cidadezinha incrustada na Serra da Mantiqueira.
A distância te permite enxergar essa geografia por toda parte. Uma geografia que se infiltra nas palavras. Com frequência, se impõe a silhueta de uma montanha – daquilo que convencionamos chamar aqui de montanha, para além do seu sentido estritamente científico. Há um declive íngreme demais para subir.
Será que, um dia, você vai escrever as planícies?, você fica se perguntando. Mas, vista de cima, uma história sobre o fim do mundo parece muito melhor. As montanhas vêm com esta impressão de vocês – de perigo e capacidade de constranger. O fim do mundo também. A escrita também.
Tudo isso tem de estar no seu livro, certo?
6.
Qual relevo te faz vulnerável a ponto de te forçar a dobrar os joelhos diante de si, como numa prece?
Qual palavra te faz curvar-se diante de si?
7.
Há um livro nunca escrito, que começou com a gravação de relatos dela durante a pandemia de covid-19. Uma menina crescendo nos anos 1940, na zona rural. A casinha com vista para a Pedra do Pântano, na Serra do Pau D’Alho. A morte de um irmão ainda criança – as crianças morriam mais naquela época. Do que foi que ele morreu? Você não se
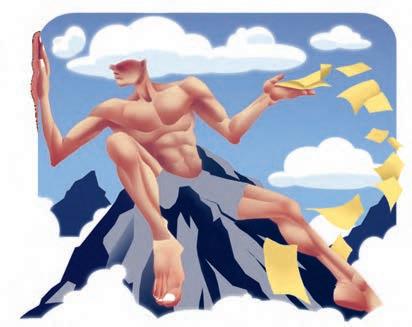
lembra. Você vasculha os arquivos do celular à procura das gravações. Não encontra. Deve ter ficado no celular antigo, perdido nessas mudanças como tantas outras coisas. A menina chega à adolescência, quando se muda com a família para a cidade e começa a trabalhar como costureira, profissão que vai exercer por mais de 60 anos. Ela vai se casar cedo, ainda menina, com seu avô. Cedo demais.
Ele tem tempo demais à frente dela. Um livro que começaria com esta imagem: a sua avó assistindo pela janela da cozinha à neblina se dissipando na montanha, como se se dissipasse a névoa que enche os olhos do leitor, e a vida dela pela frente, até a sua chegada.
Juntos vocês costurariam uma colcha capaz de cobrir a montanha, de esconder parte desta história.
Fica comigo, você diz, que eu vou precisar muito da senhora.
Você não sabe se diz à avó ou à montanha.
8.
Em abril deste ano, o proprietário do seu antigo apartamento te pediu que desocupasse o imóvel. Você gostava muito do espaço, de modo que adiou o possível para procurar outro lugar para morar. A fase da negação.
No final do vídeo que faz do novo apartamento para enviar à sua família, você filma a janela e diz exultante, Tem vista pro mato, comemorando os pequenos
morros verdes que se insinuam na paisagem para a qual os quartos estão virados. É um bairro razoavelmente novo, e você torce para que não construam prédios que obstruam o prazer da visão da qual imagina desfrutar pelos próximos anos, se tiver sorte.
Talvez seja um privilégio, uma vista assim.
Talvez seja um fardo: enxergar o coração a distância.
9.
Por pequenas que sejam, as montanhas gostam de ser celebradas, faz bem para a autoestima delas. Então você cuida de suas celebrações. Conta histórias a seu respeito e as fotografa com o celular ou a câmera analógica. Cumpre rituais sagrados antes de escalá-las. Pede licença. Toca com mão a primeira agarra sem desespero. Respira a um palmo de distância do rochedo. É o seu mantra.
Mas, às vezes, diante delas, enche o saco quando não consegue o que quer, quando cai ou escorrega, quando te falta força ou técnica. Então você grita e reclama como uma criança, enche a pedra de tapas.
Me deixa vencer da próxima vez, diz com raiva. E a raiva logo passa.
As montanhas são compreensivas com a nossa infantilidade. Têm essa postura das avós.
A escrita é menos compreensiva. Tem essa postura incômoda de um menino esperando o fim do mundo enquanto toma sol com a mãe no quintal de casa.
10.
Então você se mudou, e o tempo aqui está cada vez mais difuso. Os escaladores da região esperam a temporada de montanha chegar. Final de março, começo de abril, talvez em maio as chuvas já tenham dado trégua, em junho certamente o tempo ideal, um mês repleto de dias clássicos, como dizem, para se estar fora de casa. O início da temporada cada vez mais tarde, o fim cada vez mais cedo, antecipado pelo fogo de setembro, que vai queimar uma amplitude de área verde e forçar o fechamento dos picos de escalada, por segurança. O fogo vai queimar os equipamentos caros, deixados nas pedras para uma próxima vez. O céu vai mudar de cor, uma nuvem de fumaça vai assumir o controle até que o fogo cesse com a ajuda de brigadistas voluntários ou da temporada de chuvas, anunciando o fim de uma precária temporada de montanha. Montanhistas frustrados com o resultado do fogo, é tarde no planeta.
O fogo: há muito o que escrever a seu respeito. Mas também há muito o que calar.
Você pensa que, se escrevesse sobre o fim, certamente descreveria um dia clássico. Com fogo, montanha, verde, o coração escapando pela boca.
11.
“Quando preciso decidir algo importante, vou para São Pedro e fico horas olhando a água corrente. Todas as minhas decisões foram erradas, mas ainda confio na água”, escreve Victor H. num poema.
Apesar de suas três ou quatro decisões certas, você segue confiando nas pedras.
Elas têm a sua própria linguagem. Crua, clássica e primitiva. Você está tentando escutá-la. Você faz odes à terra e à escrita da terra (geografia), mas mentiria se dissesse que é isso o que ama mais. De todas as suas decisões erradas, a principal delas é amar os homens. Sobre quase todas as coisas.
Não: a sua pior decisão é escrever sobre esse amor. Era para isto ser um texto sobre as montanhas, não era? Um texto sobre o fim do mundo. Sobre eles.
Você diz que morreria aos pés de uma montanha, se pudesse escolher onde morrer. Mas a verdade é que escolheria morrer nos braços de uma pessoa.
Exige bastante vulnerabilidade isto de dobrar os joelhos diante dos outros.
Exige os olhos cobertos de névoa isto de perseguir um coração
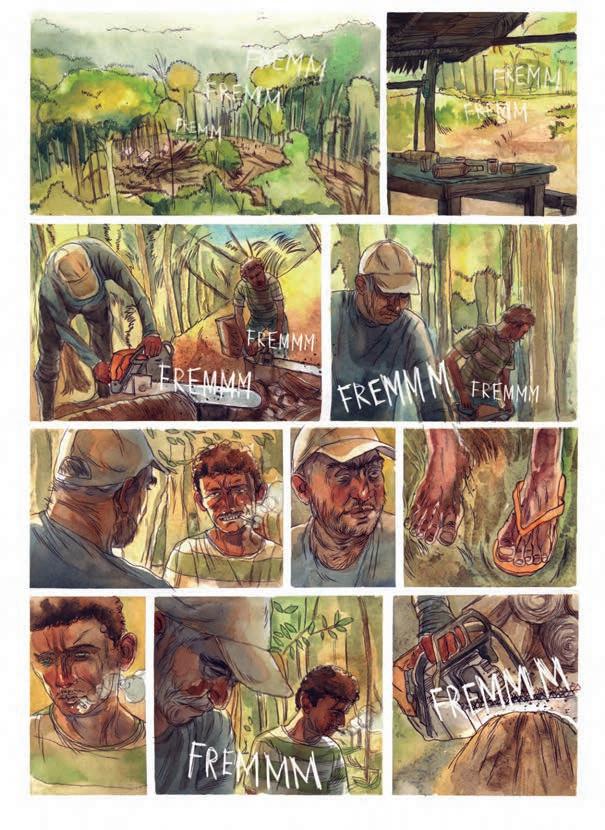
tá te chamando.
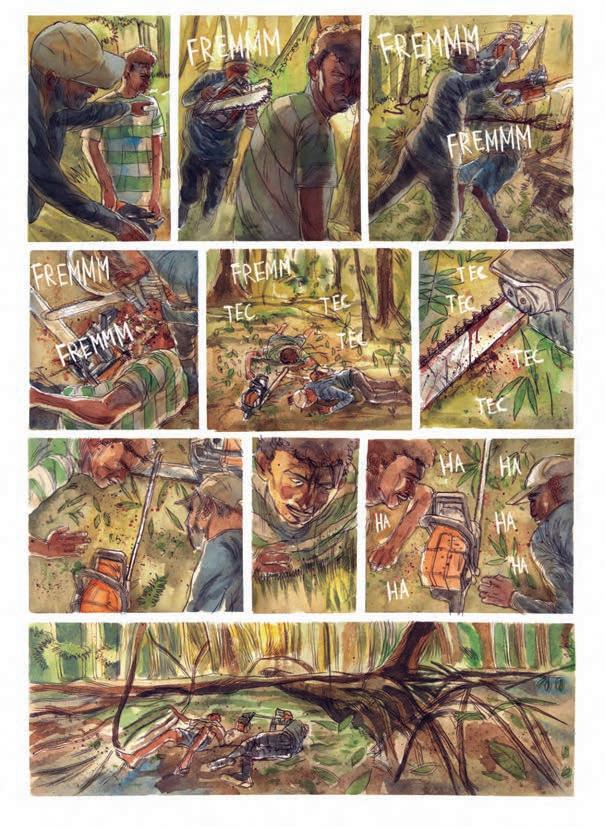
onde que tava?
Gal Costa cantou a sorte e a utopia do domingo em um ano que parecia uma longa “segunda-feira”
Texto de Renato Contente Ilustração de Arthur Starling
A sorte era um recurso escasso no Brasil de 1985. Após 21 anos de esforços custosos para restaurar a ordem democrática, o país perdia Tancredo Neves, o primeiro presidente civil eleito nesse ínterim, ainda de forma indireta, a menos de um mês de sua posse. Os anseios manifestos da população em prol da redemocratização, que tiveram como ápice as Diretas Já, no ano anterior, se alinhavam em um raro momento de consenso social sob o projeto de país de Tancredo. Em 21 de abril daquele ano, no entanto, a esperança equilibrista tombara desgraciosamente: o que deveria ser um mandato restaurador da democracia acabou sendo um velório cruel do corpo de Tancredo e dos sonhos compartilhados por fatia volumosa da população. Em paralelo a isso, a insurgência da pandemia de hiv/aids instaurava uma ordem de morte material e simbólica ainda mais cruel e violenta, sendo menosprezada por autoridades e órgãos públicos na mesma medida em que era mobilizada para classificar as minorias sexuais como vetores contaminantes do tecido social. O coração civil e o libelo da liberdade sexual no Brasil declaravam falência de forma simultânea quando, nas rádios e nos televisores do país, a voz de Gal Costa cantava enfática e graciosamente sobre o estranho e valioso bem que era a sorte. A canção Sorte, em dueto com Caetano Veloso e composta por Celso Fonseca e Ronaldo Bastos, se tornou um hit veloz naquele meio de década esquisito, com sua atmosfera idílica e cintilante quase caindo como um corpo estranho em meio a um território onde tudo em volta estava deserto. Era um misto de mensagem alienígena e alienante, um oásis fake no deserto do real, nos termos do filósofo Slavoj Ži(ek, dado o estado de desorientação frente àqueles acontecimentos sociais traumáticos. Talvez por isso os ternos convites de Gal a uma redoma de açúcar blindada de nossos piores temores,
emitidos de uma boca muito vermelha e sorridente, fossem difíceis de recusar. Sorte era um dos carros-chefes de Bem bom, álbum lançado em fins de 1985 que sedimentava a persona pop que Gal havia assumido em Profana (1984), após se despir do papel de musa sofisticada da MPB. Parte da crítica estranhava a aderência da artista a um repertório mais massificado e “aquém” de suas virtudes, o que seria uma “involução” diante de uma trajetória camaleônica que contribuíra para a constituição da MPB enquanto instância de legitimação cultural, enquanto o crítico Tárik de Souza, na contramão, afirmou que Gal “mostrou ser possível inverter os signos do consumo maciço” (Jornal do Brasil, 7/12/85). Em Bem bom, na tentativa de se modernizar e manter a relevância em meio ao crescente domínio de outros segmentos nacionais, como o rock e o pop (ora despojado, ora meloso), nacionais, ela aderira à estratégia de Profana de unir hitmakers a nomes da MPB consagrados e novatos que transitavam entre os cenários emergentes.
Profana havia demarcado o início do contrato da artista com a gravadora RCA, onde ela registrara, em 1965, os primeiros fonogramas. Após 16 anos de uma carreira fonográfica de impacto na Philips, o projeto foi gestado como um empreendimento de alto risco e fora do perímetro artístico confortável e prestigiado que a intérprete construíra em torno de si de Gal Tropical (1979) a Baby Gal (1983). Na capa, uma Gal empalidecida sob a estética teatral japonesa kabuki sugeria uma atmosfera obscura, em contraste com os álbuns solares e de conceito brando que o antecederam.
Profana era munido de projéteis para atingir públicos-alvo heterogêneos: rocks confessionais (Vaca profana, de Caetano Veloso; e O revólver do meu sonho, de Waly Salomão, Frejat e Gilberto Gil), forrós cantados junto a Luiz Gonzaga, frevos de trios elétricos e, de forma até então pouco usual, canções ultrarromânticas, que iam desde
uma dramaticidade densa (Nada mais, versão de Lately, de Stevie Wonder, por Ronaldo Bastos) até a mais úmida das declarações de amor (Chuva de prata, de Ed Wilson e Ronaldo Bastos). Ato final da cantora sob a ditadura militar, Profana, ainda que não pertença à sua safra mais política, teria a faixa-título censurada, além de conter, em linguagem carnavalesca, críticas sutis à corrupção dos militares –Onde está o dinheiro (J. Abreu, F. Mattoso e P. Barbosa) – e menções à movimentação civil pela redemocratização – Atrás da luminosidade (Luiz Sá e Teca Calazans), canção que já sugeria um mapeamento de pontos de luz.
Com direção artística do ex-Fevers Miguel Plopschi e do poeta Waly Salomão, Bem bom adensava e burilava a proposta arriscada, mas bem-sucedida comercialmente, de Profana, reunindo não apenas compositores consagrados, novatos e/ou massificados, mas autores que transitavam no terreno da poesia contemporânea, como Antonio Cicero, Carlos Rennó, Arrigo Barnabé e o próprio Waly. Na capa do álbum, em um vestido de látex preto justo, com o microfone firmemente segurado pelas duas mãos em direção ao seu sexo e olhando sorridente para algo acima de si mesma, sob um cenário minimalista futurista e fumacento, Gal parecia estar sendo abduzida para os anos 1980 de fato – não aqueles de letreiros neon que haviam anunciado uma década luminosa e promissora, mas um território escuro e movediço. Mais do que uma sugestão, o
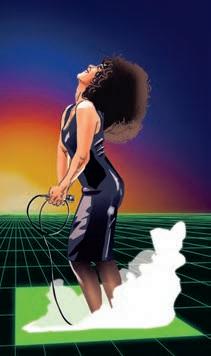
mapeamento de pontos de luz se tornava uma ideia-conceito que permearia toda a obra, como evidencia a mesma imagem da capa desfocada em vídeo na parte interna do álbum e descrita como um “remake cibernético de Fatal”, com palavras-poema sobrevoando a artista em atmosfera fantasmagórica: “a figura dela FOSFORECE”, “SORTe” e “ACENDE”. Acender o crepúsculo ou a noite na Guanabara eram algumas das palavras de ordem possíveis para driblar a década ectoplasmática.
Os tempos demandavam resiliência frente a uma retomada democrática desastrada e à irrupção da pandemia de hiv/aids, cuja resposta por parte das autoridades havia sido a propagação de pânico sexual, estigmas e negligência – afinal, até agosto de 1985, havia “só” 384 casos registrados no país, quase todos de homossexuais. Por “retomada democrática desastrada”, entenda-se a inflação exacerbada, as dívidas dantescas da ditadura militar (econômicas e humanas) e a postura vacilante do então presidente José Sarney, ex-vice na chapa de Tancredo, que aderiu a uma transição conciliatória com os militares e fragilizou os esforços coletivos empreendidos em prol da memória – não apenas das vítimas do regime, mas como prática cultural de um país, como ocorrera em vizinhos latino-americanos que padeceram da mesma peste.
Gal ousava ostentar a sorte como um recurso abundante. Mesmo vindo do outro (“meu amor, você me dá sorte”), ela não lhe faltava – na vida, de cara, acessível, vivenciável. A intérprete sugeria de forma ostensiva que, pelo menos na seara do amor, ainda nos restava a capacidade de gozar de alguma doçura. Mas a sorte de Gal tinha algo de fantasmagórico, prestes a se desmanchar no ar em milhões de partículas avessas à coesão. Os sintetizadores anunciavam a inorganicidade daquela declaração, quase um delírio futurista em meio a uma escassez distópica da própria ideia de futuro. Os fantasmas sintéticos se divertem, gozam e desejam sorte uns aos outros sob a consciência de que não há sequer um esqueleto de nação à vista e de que o prazer sexual era destituído de seu potencial político emancipatório para se tornar risco de vida.
A própria sorte ainda seria abordada sob outros ângulos ao longo do álbum, ainda associada ao amor, mas vinculada a uma ideia de escassez (“o amor é só roleta-russa”, em Acende o crepúsculo, de Marina Lima e Antonio Cicero), ou de privilégio/pecado (“eu quero a sorte de um amor tranquilo/
com sabor de fruta mordida”, em Todo amor que houver nessa vida, de Cazuza e Frejat). Para além do país, o crepúsculo a ser iluminado era a boate carioca Crepúsculo de Cubatão, que, entre 1984 e 1989, foi refúgio de outsiders em meio à pandemia de hiv/aids, reiterando o papel de pistas de dança como um dos poucos espaços de socialização e transcendência coletiva sem os estigmas que recaíam sobre a população cis-heterodissidente. O convite ao acendimento coletivo não deixava de ser um combate direto à “zona noturna da vida”, na qual doenças estigmatizadas costumavam ser dispostas, como descreve Susan Sontag no ensaio Doença como metáfora (1978).
Já em 1985, Cazuza era alvo de especulações sobre a sua condição sorológica, tendo a imagem estampada em matérias da revista Veja (anos antes da fatídica capa de 26 de abril de 1989, que trazia como legenda “uma vítima da aids agoniza em praça pública”), que o questionava sobre visitas médicas nos Estados Unidos. Gal sedimentaria a parceria com Cazuza e o apoio irrestrito ao artista ao gravar Brasil (Cazuza, George Israel e Nilo Romero), para a novela Vale tudo (1988), na qual o seu histórico de voz política dos anos 1960 e 1970 reverberaria em meio a um esgotamento social frente à instabilidade econômica e política do país. O impacto da gravação contribuiria para neutralizar o gosto amargo do restante da década após
o mau desempenho de Lua de mel como o diabo gosta (1987), disco que, para a crítica, abusou de canções ultrarromânticas. A retomada da parceria com Waly, em Plural (1990), devolveria a Gal o papel de ponta de lança da vanguarda artística, posição que, após O sorriso do gato de Alice (1993/1994), só seria retomada em Recanto (2011/2012), sob direção de Caetano Veloso. Além de Sorte, o carro-chefe ainda mais massificado e meloso de Bem bom foi Um dia de domingo, dueto com Tim Maia, dos hitmakers Massadas e Sullivan. Em um pedido açucarado e melancólico, uma voz suplica à outra, entre timbres agudos e graves: “faz de conta que ainda é cedo…”. A canção era um jogo de ilusão que ponderava sobre a retomada de algo que havia se desmanchado no ar. O ano de 1985 foi como um dia de domingo que amanhece com um pão mofado sobre a mesa, entre a ressaca e desorientação, ou como a própria Gal descrevera na bossa-novista Domingo (Caetano Veloso), de 1967: “esta tarde está morta”, “não há madrugada esperando por mim”. Com Bem bom, Gal nos fazia vislumbrar segundas-feiras possíveis. De volta ao futuro, de Waly Salomão e Ricardo Cristaldi, encerra o disco com a sugestão de que, a despeito do horror e do que foi perdido, as coisas se transformam. Sob a seta do tempo, invariavelmente apontada para frente, “sempre recomeça a dança/ a mesma dança da sinuca vital”
Uma poeta-tradutora redescobre Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf, a partir de diferentes traduções
Texto de Stephanie Borges Ilustração de Hana Luzia
E lá estavam as flores: delfínios, ervilhas-de-cheiro, ramos de lilases; e cravos, cravos aos montes. Lá estavam as rosas, as íris. Ah, sim – então ela inspirou o doce aroma do jardim terroso e ficou ali conversando com Miss Pym, que a atendia de bom grado e a julgava gentil, pois tinha sido gentil anos atrás; muito gentil, mas parecia mais velha este ano, […] com os olhos semicerrados, inspirando fundo, depois da agitação das ruas, aquele aroma delicioso, aquele frescor primoroso. (Tradução de Stephanie Fernandes e Thaís Paiva)
Acompanhar Clarissa Dalloway em sua caminhada pelas ruas londrinas numa manhã de junho, no início do verão eu-
ropeu, é só o começo de um percurso surpreendente. O monólogo interior da protagonista observa a cidade em transformação nos anos 1920, passa por luvas, colares, vestidos e inclui reflexões sobre a passagem do tempo, o encantamento com a vida e a aceitação da própria mortalidade. Revisito Mrs. Dalloway pensando nas diferenças e semelhanças entre 1925, ano de seu lançamento, e 2025. Enquanto a Europa se recuperava da epidemia de gripe espanhola (1918-1920), reaprendemos a viver após a pandemia de covid. Guerras distantes nos inquietam, mas o cotidiano violento nas metrópoles brasileiras nos faz questionar se só é possível flanar como Clarissa e Peter pelas regiões abastadas e turísticas de nossas grandes cidades.
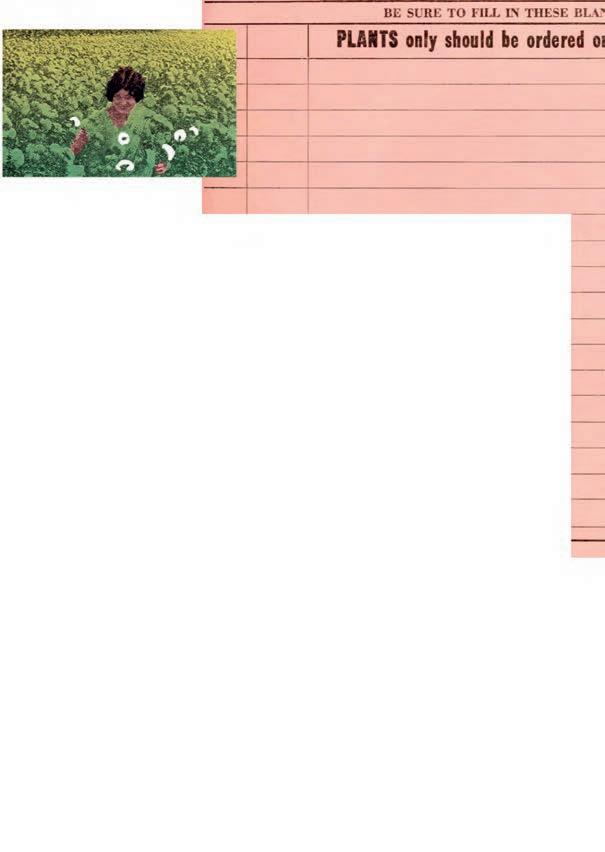
Meu intuito não é realizar um cotejo exaustivo de algumas edições disponíveis no mercado brasileiro. No entanto, as diferentes edições se distinguem pelo acabamento, pelos textos de apoio e pela contextualização das referências culturais e geográficas da época.
Em apenas duas frases, quatro profissionais se veem diante de várias decisões. Manter o pronome de tratamento em inglês, ou não? Como transmitir com informalidade a ideia de que Lucy tinha muitas tarefas difíceis à sua espera, evocada pela escolha da expressão had her work cut out? “Ter mais o que fazer” dá conta de um volume de trabalho, mas “estar com o serviço programado” talvez nos faça pensar na organização e na pontualidade britânica.
Para quem nunca teve a experiência de traduzir um texto literário, talvez pareça fácil julgar uma tradução. No entanto, quem conhece a relação íntima que tradutores e tradutoras mantêm com alguns textos descobre que cada versão, de certa forma, é uma leitura minuciosa realizada num determinado momento e contexto.
A tradução de Tomaz Tadeu é mais alinhada com a norma culta do português brasileiro, mas é muito atenta ao ritmo e à sintaxe dos longos parágrafos de Woolf. Denise Bottmann ressalta o senso de humor de Woolf, especialmente as ironias em relação ao comportamento da aristocracia inglesa:
Lady Bruton preferia Richard Dalloway, claro. Era feito de material muito mais fino. Mas não deixaria que depreciassem o pobre e querido Hugh. Nunca poderia esquecer a gentileza dele – de fato, ele tinha sido admiravelmente gentil –, ela não lembrava bem em que ocasião. Mas tinha sido admiravelmente gentil. De qualquer forma, a diferença entre um homem e outro não é grande coisa.
Stephanie Fernandes e Thaís Paiva, além se valerem de uma extensa pesquisa, apresentam uma tradução que parece pensada para leitores que terão contato com Mrs. Dalloway pela primeira vez, especialmente
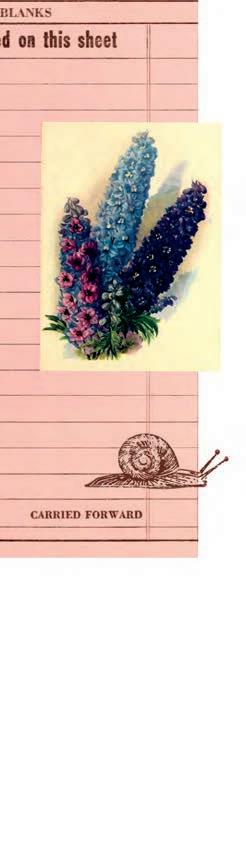
os jovens. Há um equilíbrio entre a formalidade britânica e a oralidade. O trabalho da dupla dialoga com as traduções anteriores, mas encontra um ritmo próprio.
Por ter a alegria de ser apenas leitora de Virginia Woolf e ser muito grata a seus tradutores e suas tradutoras – entre eles, Mario Quintana, Leonardo Fróes, Claudio Alves Marcondes, Ana Carolina Mesquita, Emanuela Siqueira e Sofia Nestrovski –, ressalto que não se trata de um juízo de valor, mas de constatar que as versões podem ter encontros mais felizes com determinados públicos.
Um dos maiores desafios na tradução de Mrs. Dalloway são as transições de ponto de vista da narração de um personagem. É um deslocamento sutil a partir da entrada em uma loja, um cruzamento de olhares num parque. No entanto, o tom e o vocabulário dos personagens nos informam a mudança. O modo como Peter Walsh e Richard Dalloway pensam e falam nos diz do caráter apaixonado de um e da timidez do outro. É impressionante como Sally Seton, tão rebelde e articulada na juventude, soa decepcionante quando ressurge como Lady Rosseter, embora continue ousada o bastante para entrar de penetra numa festa da alta sociedade londrina.
Clarissa é criticada por Peter e Sally por ter se rendido a uma vida convencional ao se casar com Dalloway, mas nem de longe ela é a pessoa fria e esnobe que eles imaginam. O contraste entre como ela é vista e suas ideias sobre as relações humanas é um dos aspectos mais refinados do livro. A formalidade dá a Clarissa uma compostura para navegar pela intensidade da vida, mas a afasta da filha, Elizabeth. A caminhada por bairros menos abastados de Londres, antes de voltar para casa, evidencia o conflito geracional entre as duas. Embora se mostre indecisa em relação ao futuro, Elizabeth aspira a ajudar os mais necessitados. No fim do século XIX, os rumos da vida de sua mãe parecem ter sido determinados pela escolha do marido. No início do século XX, a filha pode se imaginar estudando e trabalhando, ainda que siga uma linhagem de educadoras da família de seu pai. São percursos bem distintos.
ou ao estresse pós-traumático. Por outro lado, o excesso de informações na internet leva pessoas a se autodiagnosticarem. Um século se passou, e a saúde mental ainda é uma questão delicada para a humanidade. Septimus, o jovem que amava poesia e se voluntaria para lutar pelo seu país, é talvez quem faz de Shakespeare uma presença que ressoa na narrativa como as badaladas do Big Ben. Londres é uma personagem de Mrs. Dalloway, o bardo também.
Contudo, a situação de Rezia é tão angustiante quanto a do marido assombrado pelo melhor amigo e pelo peso da natureza humana. A jovem italiana aceita viver longe de sua família e se vê sozinha tentando cuidar do marido e apoiá-lo em seu sofrimento. Rezia também é vítima da guerra. Não acompanhamos sua dor, mas seu desfecho é talvez ainda mais trágico que o de Septimus: sobreviver à perda de alguém que ama, com quem desejava construir um futuro.
“Pois não há nada no mundo que seja tão ruim para algumas mulheres quanto o casamento”, conclui Peter ao visitar Clarissa. Rezia é o maior exemplo de como essa afirmação pode ser verdadeira.
Ler ou reler Mrs. Dalloway em seu centenário é experimentar a alegria de se deparar com um livro capaz de abarcar a complexidade do desejo, das perdas, das esperanças e das incertezas. Virginia Woolf ainda nos ensina muito sobre estilo, ritmo, ironias e construção de personagens. Ainda que a morte seja mencionada na festa, não nos enganemos: a finitude caminha lado a lado com a existência. O romance é uma declaração de amor:
Pensar em flores não exclui os funerais. Hoje, a morte de Septimus Warren Smith nos parece evitável; no entanto, milhares de pessoas ainda não têm acesso a tratamentos adequados ou ainda convivem com o preconceito em relação à depressão
Pois só os céus sabem por que a amamos assim, como a vemos assim, inventando-a, construindo-a à nossa volta, derrubando-a, criando-a de novo a cada instante; [...] não é algo que possa ser administrado, estava certa disso, por leis do Parlamento, por esta simples razão: elas amam a vida. No olhar das pessoas, na ginga, no passo, na pressa; na gritaria e no alarido; nas carruagens, nos carros a motor, nos ônibus, nos furgões, no sacolejo e no passo arrastado dos homens-sanduíche; nas fanfarras; nos realejos; no triunfo e no frêmito e no insólito e intenso zumbido de algum aeroplano no alto estava o que ela amava; a vida; Londres; este momento de junho. (Tradução de Tomaz Tadeu)