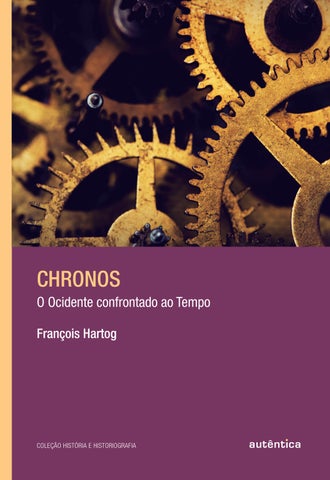CHRONOS
O Ocidente confrontado ao Tempo François Hartog
COLEÇÃO HISTÓRIA E HISTORIOGRAFIA
Coleção HISTÓRIA & HISTORIOGRAFIA
Coordenação Eliana de Freitas Dutra
François Hartog
Chronos
O Ocidente confrontado ao Tempo
tradução
Laurent de Saes
Copyright © 2020 Éditions Gallimard
Copyright desta edição © 2025 Autêntica Editora
Título original: Chronos: L’Occident aux prises avec le Temps
Todos os direitos reservados pela Autêntica Editora Ltda. Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida, seja por meios mecânicos, eletrônicos, seja via cópia xerográfica, sem a autorização prévia da Editora.
coordenadora da coleção história e historiografia
Eliana de Freitas Dutra
editoras responsáveis
Rejane Dias
Cecília Martins
revisão técnica
Temístocles Cezar
revisão
Lívia Martins
projeto gráfico Diogo Droschi
capa
Alberto Bittencourt (sobre Adobe Stok) diagramação Guilherme Fagundes
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) (Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)
Hartog, François
Chronos : o Ocidente confrontado ao tempo / François Hartog ; tradução Laurent de Saes. -- 1. ed. -- Belo Horizonte, MG : Autêntica Editora, 2025. -- (História & historiografia ; v. 27)
Título original: Chronos : l'Occident aux prises avec le Temps
ISBN 978-65-5928-528-0
1. Historicidade 2. Tempo (Filosofia) 3. Tempo - Religião - Cristianismo I. Título. II. Série.
25-251021 CDD-901
Índices para catálogo sistemático: 1. História : Filosofia 901
Cibele Maria Dias - Bibliotecária - CRB-8/9427
Belo Horizonte
Rua Carlos Turner, 420 Silveira . 31140-520
Belo Horizonte . MG
Tel.: (55 31) 3465 4500
São Paulo
Av. Paulista, 2.073, Conjunto Nacional Horsa I . Salas 404-406 . Bela Vista
01311-940 . São Paulo . SP
Tel.: (55 11) 3034 4468 www.grupoautentica.com.br
SAC: atendimentoleitor@grupoautentica.com.br
Para a pequena Georgia.
Capítulo
Prefácio à edição brasileira
Fernando Nicolazzi1
“Por conseguinte, o que é o tempo? Se ninguém me pergunta, eu sei; porém, se quero explicá-lo a quem me pergunta, então não sei.”2 A fórmula é bem conhecida. Com ela Santo Agostinho buscou evidenciar o inexplicável do tempo naquele que talvez seja, de suas Confissões, o capítulo mais mencionado quando se aborda o problema da experiência temporal humana. De fato, não é tarefa fácil oferecer respostas à pergunta sobre o que é o tempo. E, no entanto, a indagação nunca deixou de ser colocada, assim como nunca se evitou defrontar-se com ela em diferentes contextos, sob distintas premissas, segundo variadas perspectivas. Ainda que nem sempre de forma direta e enfática, por vezes de maneira bastante sutil e velada, dizer o indizível do tempo ocupou, ao longo do tempo, tradições de pensamento bastante heterogêneas, o que indica, inclusive, a própria heterogeneidade do tempo que se procura explicar. Nesse sentido, tal multiplicidade de enfoques acaba por forçar a flexão do substantivo, impondo um sempre necessário plural: ao falar do tempo, estamos sempre falando de tempos
Contudo, no âmbito mais restrito e limitado da historiografia, em texto trabalhado e retrabalhado desde meados dos anos 1970, sendo sua versão final publicada em 1983, Michel de Certeau advertiu seus colegas historiadores a respeito do fato de que “a objetivação do passado, desde há
1 Historiador e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordenador do Laboratório de Estudos sobre os Usos Políticos do Passado e pesquisador do CNPq.
2 Santo Agostinho. Confissões, XI, 17. São Paulo: Paulus, 1997, p. 193.
três séculos, fez do tempo o impensado de uma disciplina que não cessa de utilizá-lo como um instrumento taxonômico”. 3 Embora sem se converter em objeto privilegiado para a reflexão crítica, ele seria, segundo o autor, tão somente um instrumento classificatório e, portanto, hierarquizador, dos fatos, indivíduos, sociedades, processos, enfim, de tudo aquilo que pudesse se tornar objeto para a história.
Não deixa de ser curioso o diagnóstico elaborado por Certeau, considerando, por exemplo, o lugar central ocupado na própria historiografia francesa, desde a metade do século XX, pela compreensão tripartite de ritmos temporais oferecida por Fernand Braudel, que mostra como o tempo histórico estava de fato no campo das inquietações historiográficas daquele contexto.4 De igual modo, isso fica evidenciado na imponente reflexão teórica formulada por Reinhart Koselleck a partir do final da década de 1960, condensada em Futuro passado, obra de referência sobre a semântica dos tempos históricos publicada originalmente em 1979.5 Não há como desconsiderar, do mesmo modo, no plano da erudição histórica, as abordagens sobre o tempo entre os antigos oferecida por autores como Pierre Vidal-Naquet e Arnaldo Momigliano.6 E, se cruzássemos a fronteira da história com a filosofia, obviamente a trilogia Tempo e narrativa, iniciada por Paul Ricoeur justamente quando Certeau finalizava a última versão de seu texto, seria uma referência incontornável para ser abordada.7 Com efeito, se o tempo ocupava algum lugar na disciplina da história no ambiente europeu da segunda metade do século XX, não era tão somente
3 Certeau, Michel de. L’histoire, science et fiction. In: Histoire et psychanalyse entre science et fiction. Paris: Gallimard, 1987, p. 76, tradução nossa [História e psicanálise: entre ciência e ficção. Belo Horizonte: Autêntica, 2023, p. 64].
4 Braudel, Fernand. Écrits sur l’histoire. Paris: Flamarion, 1969 [Escritos sobre a história. São Paulo: Perspectiva, 1992].
5 Koselleck, Reinhart. Vergangene Zukunft Zur Semantik geschichtlicher Zeiten Frankfurt: Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1979 [Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: Contraponto; Ed. PUC-Rio, 2006].
6 Vidal-Naquet, Pierre. Essai sur quelques aspects de l’expérience temporelle des Grecs. Revue de l’histoire des religions, janv./mars 1960; Momigliano, Arnaldo. Time in Ancient Historiography. History and Theory, n. 6, 1966.
7 Ricoeur, Paul. Temps et récit. Paris: Le Seuil, 1983, t. I – L’intrigue et le récit historique Os outros dois volumes foram: t. II – La configuration dans le récit de fiction (1984); t. III – Le temps raconté (1985) [Tempo e narrativa . São Paulo: Martins Fontes, 2011].
como instrumento classificatório, e estava longe de ser algo simplesmente da ordem do impensado.
Entre os praticantes da história que há algumas décadas tomam o tempo como objeto privilegiado de reflexão, François Hartog, leitor atento de Michel de Certeau, ocupa uma posição destacada, particularmente em razão de sua coletânea de ensaios em torno da experiência contemporânea do tempo, publicada em 2003, Régimes d’historicité: presentisme et expériences du temps. 8 Se a noção de presentismo lhe serve para oferecer um diagnóstico e uma periodização a respeito das formas temporais da atualidade, pelo menos dessa atualidade europeia que emergiu sobretudo a partir da década de 1970 e que teve nos episódios de 1989 um ponto de inflexão importante, a categoria regimes de historicidade é pensada como um instrumento heurístico para dizer o tempo e representar os modos como passado, presente e futuro são articulados em distintos contextos.
Cabe destacar, porém, que se trata de uma reflexão que tem sua própria temporalidade. Assim, o instrumento heurístico aparece em sua obra ainda em 1983, quando publicou na revista Annales uma nota crítica sobre a conferência do antropólogo estadunidense Marshall Sahlins, que posteriormente se tornou parte da conhecida obra Islands of History. 9 Dez anos depois, na companhia de outro antropólogo, Gérard Lenclud, a categoria ganhou densidade teórica e, na década seguinte, tomou sua forma acabada na coletânea de ensaios antes mencionada.10 Por sua vez, a noção de presentismo é posterior e, em certa medida, um dos efeitos próprios do desenvolvimento do conceito de regimes de historicidade. Ela aparece inicialmente em ensaio elaborado a propósito dos volumes Les lieux de mémoire, organizados por Pierre Nora entre 1984 e 1992, quando a contraposição entre um regime moderno e um regime presentista
8 Hartog, François. Régime d’historicité. Presentisme et expériences du temps. Paris: Seuil, 2003 [Regimes de historicidade: presentismo e experiências do tempo. Belo Horizonte: Autêntica, 2013].
9 Hartog, François. Marshall Sahlins et l’anthropologie de l’histoire. Annales E.S.C., n. 6, 1983; Sahlins, Marshall. Islands of History. Chicago: University of Chicago, 1985 [Ilhas de História . Rio de Janeiro: Zahar, 1990].
10 Hartog, François; Lenclud, Gérard. Régimes d’historicité. In: Dutu, Alexandre; Dodille, Norbert (texts réunis par). L’état des lieux en sciences sociales. Paris: L’Harmattan, 1993.
de historicidade é sugerida.11 Como se sabe, é no livro de 2003 que tal hipótese ganhará ressonância, pautando o debate em torno das formas contemporâneas de experiência de tempo.
Tanto a noção de presentismo quanto o conceito de regimes de historicidade são categorias que estruturam a obra Chronos: L’Occident aux prises avec le Temps, publicada originalmente em 2020 e que agora o leitor e a leitora brasileira poderão acompanhar na tradução de Laurent de Saes, com cuidadosa revisão técnica de Temístocles Cezar. Trata-se de mais um movimento na obra de Hartog, historiador da antiguidade por formação, atento aos desdobramentos conceituais oriundos de disciplinas vizinhas, sobretudo a antropologia, e particularmente interessado naquilo que a literatura oferece para pensar aspectos constituintes da experiência humana. Conciliando sua reconhecida erudição com uma forma propriamente ensaística de expressão, Chronos desdobra indagações colocadas em Régimes d’historicité, ao passo que abre os caminhos que o autor percorreu posteriormente e que culminaram em seu mais recente livro, Départager l’humanité: humains, humanismes, inhumains. 12
Os ecos agostinianos aparecem desde as primeiras palavras inseridas no prefácio: “Chronos, quem ou o que é ele?”. Porém, diferentemente da perspectiva do autor cristão, que considerava o gesto da indagação como um obstáculo ao pensamento (se me perguntam, deixo de saber!), Hartog encara a pergunta como uma condição incontornável para o pensar, situando-a em uma reflexão a respeito da experiência de tempo que é justamente a análise do seu próprio tempo. Nesse sentido, colocar-se a pergunta, mais do que comprometê-lo, significa dar tração ao pensamento, torná-lo operatório. Em suas palavras, “dar ideias, multiplicando os pontos de vista, é nos ajudar a ver o que não vemos, não queremos ou não podemos ver, o que nos cega, nos fascina, nos apavora ou nos horroriza: em resumo, o presente ‘indedutível’”, de que fala Paul Valéry, outro de seus guias no percurso analítico. Embora direcione seu olhar ao mundo antigo, é, portanto, a contemporaneidade que lhe serve de mote principal para seu erudito estudo.
11 Hartog, François. Temps et histoire. Comment écrire l’histoire de France? Annales E.S.C., n. 6, 1995.
12 Hartog, François. Départager l’humanité: humains, humanismes, inhumains. Paris: Gallimard, 2024.
Há uma outra diferença sutil na forma como aqui a pergunta é colocada, pois junto com o quê da indagação emerge um quem. Assim, de uma espécie de objeto inerte sobre a qual o pensamento projeta sua reflexão, esse tempo Chronos é no livro personificado como um ator específico. Em outras palavras, torna-se o personagem em torno do qual todo o enredo vai sendo elaborado, menos sob a chave de um romance de formação que buscaria seu desenvolvimento no tempo, do que de um ensaio que aponta para as formas de embate que o próprio tempo mantém com uma determinada forma de sociedade. Daí a ideia de um Ocidente confrontado ou às voltas (aux prises avec) com Chronos, esse tempo forte, marcado pela amplidão de seus domínios, originado no âmago do pensamento grego antigo, transmutado e destronado pelas formulações que o cristianismo lhe impôs, e que, desde o final do século XVIII, foi reconstituindo seu reinado a ponto de assumir hoje, em face à eminência da catástrofe antropocênica, a figura de uma forma temporal indevassável pela experiência humana, posto que a transcende em escala sem precedente. O tempo do planeta agora impera sobre o tempo do mundo, dilui as fronteiras antes bem estabelecidas entre a natureza e a cultura, alarga seus limites para um passado mais que longínquo (as cifras de sua contagem ultrapassam os dez dígitos) e expande seus horizontes com expectativas pós-humanas. Chronos novamente é entronado e submete ao seu domínio os tempos próprios dos humanos.
Esse ator, que ocupa o lugar de protagonista na obra, é acompanhado em seus momentos de crise, quando diferentes interrogações desestabilizam arranjos duradouros e possibilitam novas formas de orientação do tempo, no tempo. No princípio estão as formulações gregas, quando Chronos, o tempo propriamente dito, e Crono (Krónos), personagem que a mitologia transformou num devorador de filhos, ceifador de vidas, entram em simbiose.
O tempo Chronos, então, é aquele que tudo devora. Mas a astúcia grega criou outra forma de tornar a experiência temporal inteligível, valendo-se do termo kairós, o instante oportuno e decisivo. Como afirma o autor, “o tempo dos homens, o da ação bem conduzida, é um misto de tempo chronos e de tempo kairós”. Seria forçoso enxergar aí os esboços da hoje conhecida dialética entre diacronia e sincronia, entre estrutura e acontecimento?
Mas o pensamento grego legou ainda um outro termo que possibilita lidar com uma forma diversa de “operação sobre o tempo”: krisis. Remetendo tanto à noção jurídica de julgamento quando ao processo médico no corpo de um doente, o termo carrega a ideia de instância resolutiva
(o resultado de uma batalha, seja a vitória ou a derrota; o desenlace de uma doença, seja a recuperação ou a morte). Tal legado foi apropriado pela tradição cristã, possibilitando aquilo que é o tema principal dos quatro primeiros capítulos da obra, a configuração e a desfiguração de um regime cristão de historicidade, num arco cronológico que segue desde o século III a.C., quando a bíblia hebraica é traduzida para o grego com o uso dos três termos orientadores (chronos, kairós, krisis), até o século XVIII, momento em que um regime moderno ganha força no interior do próprio regime cristão, passando a preponderar no mundo ocidental ao longo do século seguinte.
A originalidade do cristianismo, marcada pelos textos da tradição apocalíptica e pelas novidades trazidas no Novo Testamento, foi ter atribuído a Kairós um papel preponderante na sua formulação da experiência do tempo. Esse momento decisivo que corta e limita a vastidão de Chronos situa-se entre dois eventos fundamentais para a cosmovisão cristã: a encarnação de um lado e, de outro, o Julgamento Final ou a Parusia, definindo o retorno do Messias e o começo da eternidade divina, o que no limite significa colocar essa nova temporalidade formulada no interior do cristianismo entre o começo do tempo do fim e o derradeiro fim dos tempos. Como afirma de modo enfático Hartog, “fustigado pelo sopro de Kairós e inclinado em direção ao dia do Ju í zo, Chronos é escatologizado, apocaliptizado, messianizado: transformado e dominado”. Em outras palavras, o tempo (Chronos) em sua continuidade sofre um corte profundo ocasionado pelo evento fundador (kairós) que descortina o horizonte definido pela certeza de um momento definitivo (krisis). Constitui-se assim aquela que é a característica distintiva do regime cristão de historicidade, na perspectiva de Hartog, um presentismo apocalíptico sob o signo de Kairós.
A partir da base linguística apropriada e ressignificada do léxico grego, todo o trabalho dos autores cristãos durante séculos foi o de tornar prevalecente a nova estrutura temporal no longo período de consolidação do cristianismo como cosmovisão hegemônica no Ocidente. Cabe ressaltar que Hartog está longe de um modelo de história social ou das mentalidades ocupada com as formas cotidianas de uso e vivência do tempo pelos indivíduos, particularmente na Idade Média.13 Nesse sentido,
13 Como, por exemplo, em: Baschet, Jérôme. Les cadres temporels de la chrétienté. In: La civilisation féodale. De l’an mil à la colonisation de l’Amérique. Paris: Flammarion, 2018,
seu enfoque, nomeado por ele como de uma história dos conceitos, incide sobre os textos formadores do pensamento cristão, não apenas os que fazem parte das Escrituras, mas também aqueles que definiram a base discursiva da religião, a exemplo de Agostinho, Eusébio, Orósio e outros. Hartog percorre os textos como uma espécie de andarilho recolhendo, após cuidadosa seleção, o material que encontra no trajeto e que, ao final, estrutura o conjunto de seu argumento. Não raro indica que, do conjunto textual em análise, não reterá se não aquilo que lhe interessa para delimitar a singularidade de sua hipótese.
Além das imposições estabelecidas pela ordem do poder político (a conversão de Constantino e o edito de Milão, Justiniano alguns séculos depois justapondo Estado e religião), uma das principais estratégias para fazer prevalecer o cristianismo foi por meio do controle do tempo, o que, na prática, significava estabelecer monopólio em sua administração por meio do calendário e da cronologia. Do ponto de vista conceitual, significava ainda dotar de mais uma dimensão o predomínio de Kairós sobre Chronos, possibilitando, pela liturgia (como na discussão sobre a data da Páscoa cuidadosamente reconstituída por Hartog), a junção entre o tempo de Deus e o tempo mundano dos homens. Isso garantiu um ganho sobressalente, uma vez que a cronologia cristã poderia finalmente ser ajustada à contagem cronológica dos tempos anteriores ao cristianismo, subsumindo essa pluralidade temporal em um tempo único e universal (que não deixa de ser ele próprio uma forma de singular-coletivo). A história que a Bíblia oferecia poderia, assim, encaixar-se nas cronologias pagãs, envolvendo-as, dominando-as e sincronizando-as ao tempo kairós cristão. O mundo passa a ter uma idade única, contada de forma modesta na escala dos milhares de anos.
O aparato conceitual pelo qual o cristianismo deslocou o predomínio de Chronos, impondo uma forma temporal a partir do par kairós e krisis sob a égide do primeiro, ganhou consistência e sofisticação com aquilo que Hartog chama de operadores que possibilitaram negociar formas de atuação para Chronos (“trata-se de abrir espaço, [mas] sem ceder nada quanto ao essencial”). Aqui o léxico grego se articula com a terminologia latina, e quatro são os principais desses operadores temporais identificados p. 419-475 [Os quadros temporais da cristandade. In: A civilização feudal: do ano mil à colonização da América . São Paulo: Globo, 2006].
pelo historiador: “em primeiro lugar, a accommodatio (a acomodação divina à natureza humana), a translatio (a sucessão dos impérios), a renovatio (o renascimento) e a reformatio (a reforma em todos os sentidos do termo)”. Esse é um dos momentos do livro em que o aporte teórico da história conceitual praticada pelo autor se apresenta de forma mais inequívoca, mostrando como a linguagem funciona enquanto um instrumento de produção da experiência e não apenas como sua forma de representação. Vemos aqui um exemplo da noção koselleckiana do conceito ao mesmo tempo como fator e indicador da realidade.14
Por meio do uso de tais operadores, Hartog mostra como as negociações com Chronos passaram pelos sentidos do tempo cosmológico dos ritmos da natureza (accommodatio), da temporalidade política e a transição entre as dinastias e os impérios do mundo (translatio), pelo confronto entre tempos distintos, antigo e moderno, e a possibilidade de fazer renascer o primeiro no segundo (renovatio), pelos modos de abertura ou ruptura no próprio interior da religião cristã (reformatio). O que é importante ressaltar dessas operações é que, ainda que abrindo brechas para que Chronos se manifestasse, elas não deslocaram o fundamento que fazia com que o tempo kairós fosse preponderante: a expectativa do fim do tempo. Seja tal expectativa a finitude que a natureza impõe, seja o término de um reinado ou a decadência de um império, seja na forma do perecimento de um tempo passível de ser renascido, seja ainda nos momentos oportunos que fazem com que a própria religião possa ser re inventada. Em seu percurso que segue, de modo geral, por um caminho linear que acompanha a sucessão de contextos, algo sensivelmente distinto dos saltos e idas e vindas temporais que caracterizam o Régimes d’historicité, Hartog não perde de vista, no entanto, os momentos de brechas no tempo. No caso do regime cristão que se torna hegemônico durante séculos, as “dissonâncias e fissuras” também são buscadas pelo historiador, que as identifica desde os princípios da modernidade, aquela mesma dos humanistas europeus. O fascínio pela antiguidade que a partir do século XIV tomou lugar na Europa dos Renascimentos deslocou a preponderância do presente e abriu o tempo cristão para um tempo antes do tempo, valorizando-o como modelo e guia. Não só: a erudição humanista fez surgir ainda outras modalidades
14 Koselleck, Reinhart. Uma história dos conceitos: problemas teóricos e práticos. Estudos Históricos, v. 5, n. 10, 1992, p. 136.
de contagem do tempo, aprimorando o método crítico da cronologia, que nas mãos de José Justo Escalígero deu ao tempo outra espessura. Some-se a isso o papel político e cultural que assumirá a Reforma, assim como os deslocamentos espaciais possibilitados pelas navegações entre continentes (os velhos e os novos). Eis aí alguns dos abalos “que reabrem o caso Chronos, questionando sua sujeição a Kairós e Krisis”.
É, no entanto, no século XVIII que as coisas assumem proporções mais intensas e que o edifício longamente erigido pelo cristianismo passa a apresentar as rachaduras que farão surgir dele um regime de historicidade distinto, quando a articulação entre passado, presente e futuro assume novas formas, dando outra “textura” (termo recorrente no livro) à experiência temporal. Chronos volta a ocupar protagonismo e o tempo moderno assume outros fundamentos; diante do Kairós presentista, a modernidade descortina o futuro e suas vastas expectativas. Nas palavras de Hartog, “o ferrolho bíblico cede”.
Dois autores ocupam posição central nesse processo de desmantelamento do regime de historicidade que o cristianismo criou. De um lado, Buffon, o naturalista que abriu para o passado um tempo em escala geológica que o presentismo cristão jamais poderia conceber ou alcançar; de outro, Condorcet, filósofo e matemático que instituiu na ideia de progresso indefinido o movimento próprio do tempo moderno. Diante das profundas transformações que o século XVIII trouxe junto com seu espírito crítico, nem o calendário, nem a cronologia, nem os operadores temporais antes mencionados poderiam dar conta de manter Chronos como personagem secundário. Chegamos no tempo em que o próprio tempo se torna o ator por excelência do processo histórico.
O século XIX completou o trabalho operado no século anterior, colocando o evolucionismo darwinista e as filosofias da história como condições para reentronizar Chronos em seus domínios, que agora assumem proporções que não apenas dão densidade ao tempo, mas expandem vertiginosamente sua duração, cujas cifras passam da escala dos milhões de anos. Por outro lado, se a acomodação cristã criou mecanismos de articulação entre o tempo de Deus e o tempo dos homens, o regime moderno de historicidade pareceu se sustentar numa distinção radical entre o que é do plano natural e o que é do mundo humano. E, se as ciências naturais em certa medida tentaram garantir a continuidade entre uma coisa e outra a partir da teoria da evolução das espécies, o advento das assim chamadas
“ciências do espírito” confirmaram o recorte entre natureza e cultura que perdurou enquanto o regime moderno foi preponderante.
Daquilo que é pertinente a este novo regime de historicidade, contemporâneo do conceito moderno de história identificado por Koselleck, referência primeira de Hartog, e daquilo que diz respeito às brechas nele abertas nos momentos de crise do século XX, disso tudo conhecemos já sua história e seus traços característicos desde Régimes d’historicité. O que importa mencionar aqui é que, com a nova articulação do tempo e o novo lugar concedido a Chronos, outros significados foram atribuídos aos termos kairós e krisis. A ideia de revolução ganha essa camada de momento oportuno e decisivo, e mesmo na ideia de um Jetztzeit benjaminiano é possível perceber as permanências ressignificadas do primeiro. Já o segundo termo se transmuta na noção moderna de crise, constitutiva do próprio modelo capitalista que a sociedade moderna assumiu. Mas cabe também indicar que o presentismo do século XX não equivale ao presentismo apocalíptico que fundamentou o regime cristão. Sem estar delimitado por duas balizas tão nítidas como a Encarnação e a Parusia, aquilo que define o presentismo contemporâneo não é se localizar entre o tempo do fim e o fim do tempo, mas sim definir o presente como um fim em si mesmo, marcado pela aceleração sem movimento e pelo primado do instantâneo que parecem destemporalizar o próprio tempo.
O livro chega, então, em seus momentos finais que, na própria obra de Hartog, assumem uma posição de momentos decisivos. Ao se engajar nos debates contemporâneos a respeito do Antropoceno, o historiador abre um conjunto novo de questões que não estavam anteriormente delineadas, ao mesmo tempo que cria as condições para que sua reflexão mais recente sobre humanos e pós-humanos ganhe contorno. Guiado pelo diálogo com os textos do historiador indiano Dipesh Chakrabarty, referência incontornável do debate na historiografia e que merece no livro um agradecimento singular, Hartog discute os significados da discussão sobre o tema para a experiência contemporânea do tempo.
A temporalidade do Antropoceno é caracterizada como o novo império de Chronos no século XXI, o que configura para Hartog uma nova hipótese (ou pelos menos uma nova indagação) a respeito de um regime de historicidade distinto do cristão, do moderno e do presentista. Em certa medida, a condição histórica contemporânea guarda elementos de cada um daqueles regimes anteriores: o sentimento apocalíptico de fim do tempo,
o apreço pelo progresso na forma do avanço tecnológico, a aceleração em ritmo de processadores de última geração, reduzindo à escala nanoscópica a duração do instante. Mas ela transforma e transtorna tudo o que veio antes, já que a ideia de fim não está mais ligada a uma escatologia mística, mas à concretude dos dados científicos; o avanço tecnológico acelerado está em descompasso com aquilo que o tempo da natureza pode suportar; a duração mais do que ínfima da realidade digital tem a sua contraparte na escala cronológica volumosa que a geologia oferece, tornando quase que um lampejo de tempo a contagem oferecida por Buffon no século XVIII. A fronteira entre humano e natureza que fundou o pensamento moderno e permaneceu durante o regime presentista evaporou a partir da compreensão de que o humano, em sua forma capitalista, tornou-se um agente geológico capaz não apenas de alterar os tempos do (seu) mundo, mas de transformar a própria temporalidade do planeta (o seu e o de tantos outros). Como escreve Hartog, “viver no Antropoceno é fazer a experiência de duas temporalidades que, simultaneamente, não se misturam e estão em tensão constante uma em relação à outra”. Em outras palavras, significa considerar que permanece havendo um tempo próprio do humano, do qual uma disciplina como a história busca ser sua forma privilegiada de representação; mas ao lado dele emerge outro tempo cuja espessura, densidade e volume são de outra ordem, inalcançável pelas ferramentas que a historiografia atualmente oferece e que, portanto, beira o irrepresentável. Nem Kairós, nem Krisis parecem funcionar como mediadores ou limitadores deste Chronos que, em seu novo reinado, desprendeu-se das próprias amarras que os humanos outrora lhe impuseram.
Chronos, o livro, é o desdobramento de uma reflexão que já se estende por algumas décadas, oferecendo perspectivas distintas e eruditas para uma questão que talvez seja transversal aos textos que Hartog vem publicando pelo menos desde a década de 1980: como funciona o tempo e como o tempo é posto em funcionamento? É bem verdade que seu olhar incide preponderantemente no contexto particular dos povos europeus, manifestando as possibilidades e os limites que tal contexto impõe. Em sua repercussão, em debates e resenhas, o fato já foi diagnosticado, assim como já o havia sido por conta da obra anterior sobre o presentismo.15
15 Para mencionar apenas um exemplo, remeto ao número especial de History and Theory (v. 60, n. 3, 2021), onde consta um texto de François Hartog sobre o argumento do
De todo modo, isso tampouco é negado pelo autor, já que o Ocidente (que passa a ser o equivalente a Europa) é indicado desde o título. O confronto de Chronos, o tempo, com outras realidades não entra no horizonte de Hartog senão muito tangencialmente.
Se a crítica obviamente é válida, ela por sua vez não anula o que o livro traz de contribuição para o debate, sobretudo por colocar novamente em teste o instrumento heurístico formulado por Hartog, ou seja, o conceito de regimes de historicidade. Da mesma forma, a própria noção de presentismo como forma de periodização e representação de uma determinada realidade tem seus limites reconhecidos diante do que a nova experiência de tempo nos coloca como imperativo para o pensamento e para a ação, tema que permanecerá inquietando o autor nos desdobramentos de sua reflexão. E, assim, o fim da leitura se transforma propriamente no tempo da espera, nesse intervalo no qual aguardamos que a tradução de Départager l’humanité logo seja oferecida ao público brasileiro.
Porto Alegre, março de 2025.
livro, seguido pelos comentários e críticas de autores como Gabrielle Spiegel, Dana Sajdi, Nitzan Lebovic, Ethan Kleinberg, Zvi Ben-Dor Benite e Dipesh Chakrabarty. No contexto brasileiro, vale atentar à entrevista concedida por ele a Francine Iegelski em 2019, portanto antes do lançamento do livro, quando Hartog o situa no conjunto de sua reflexão (Tempo, v. 26, n. 1, 2020).
www.autenticaeditora.com.br www.twitter.com/autentica_ed www.facebook.com/editora.autentica