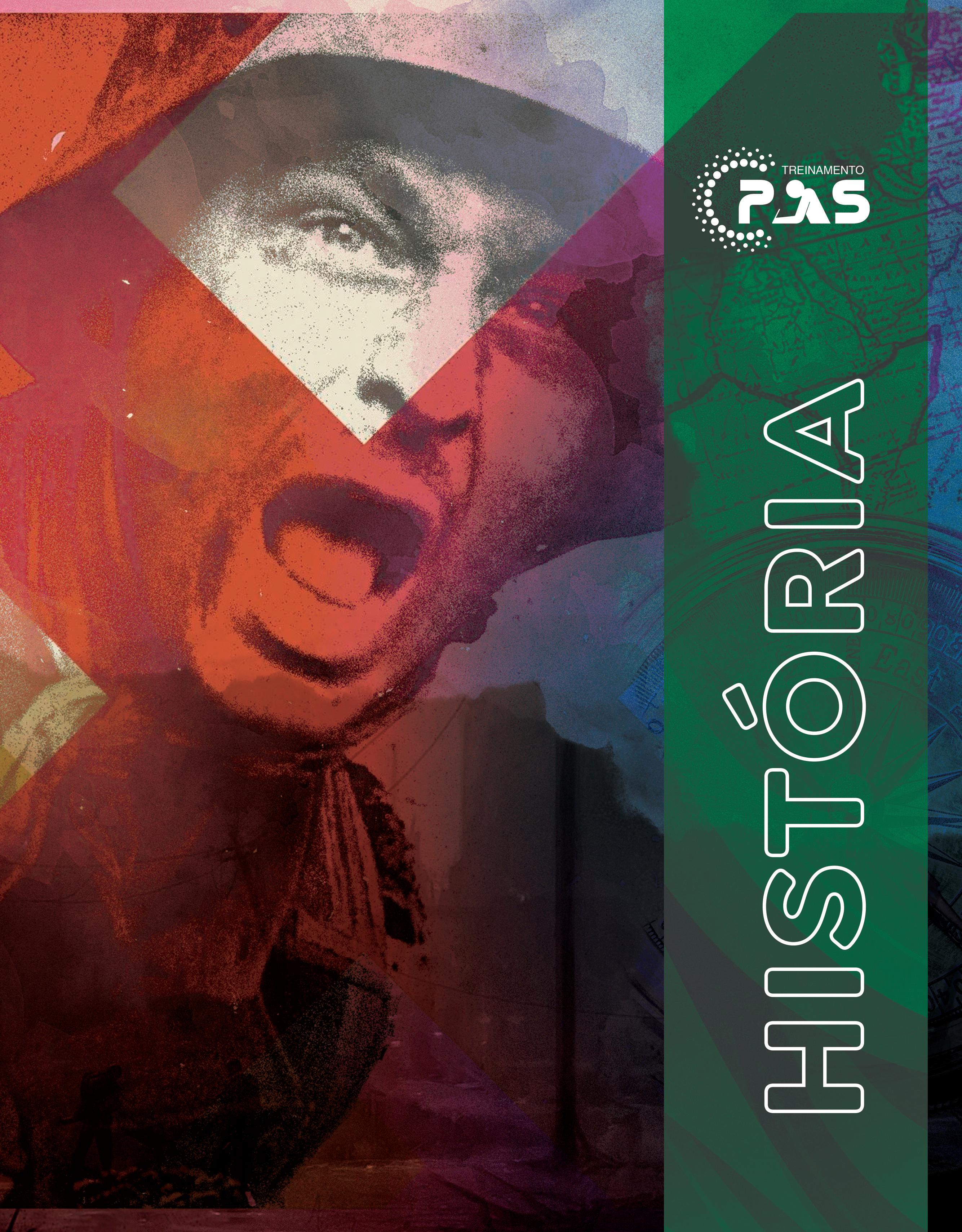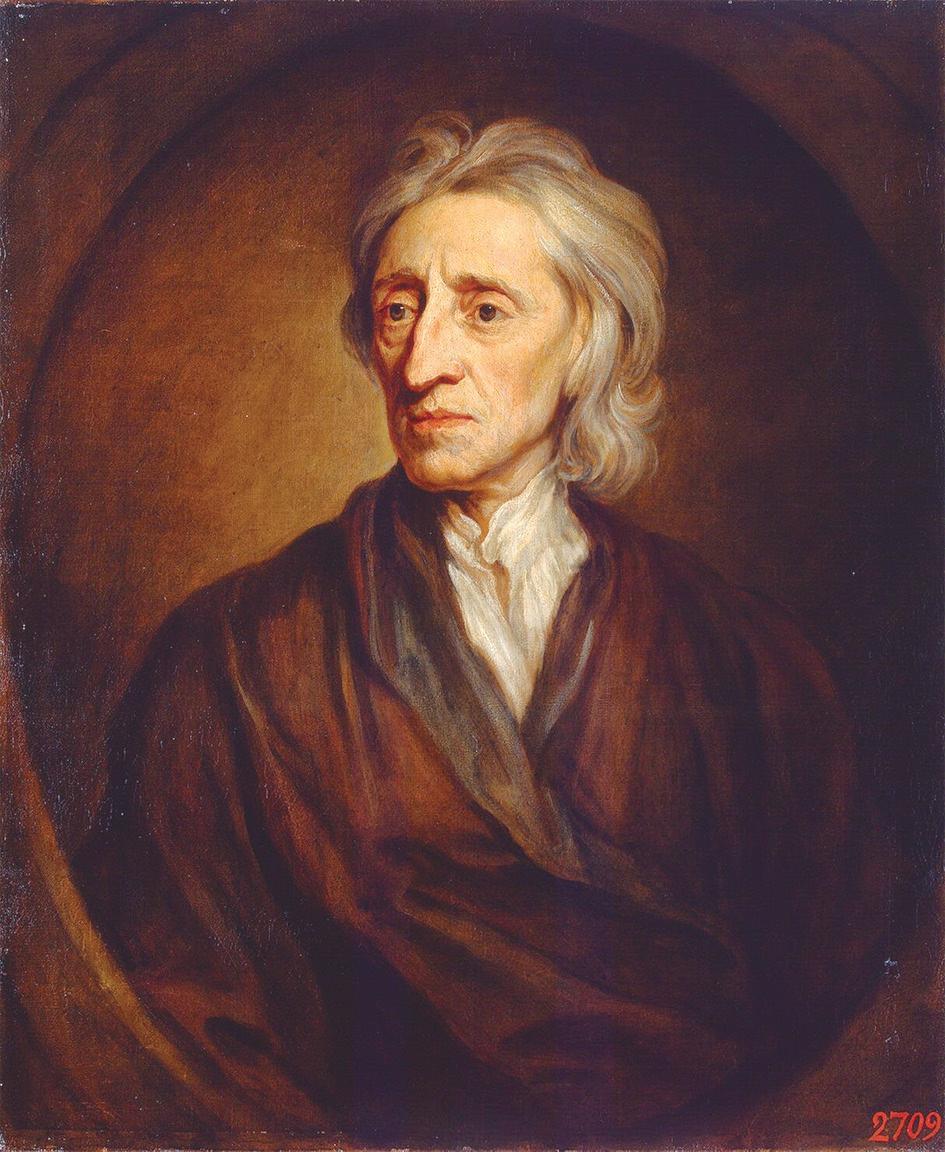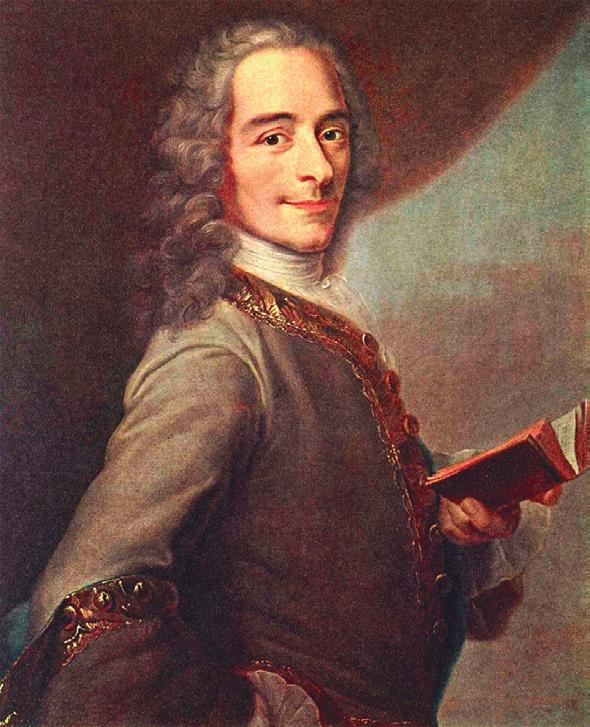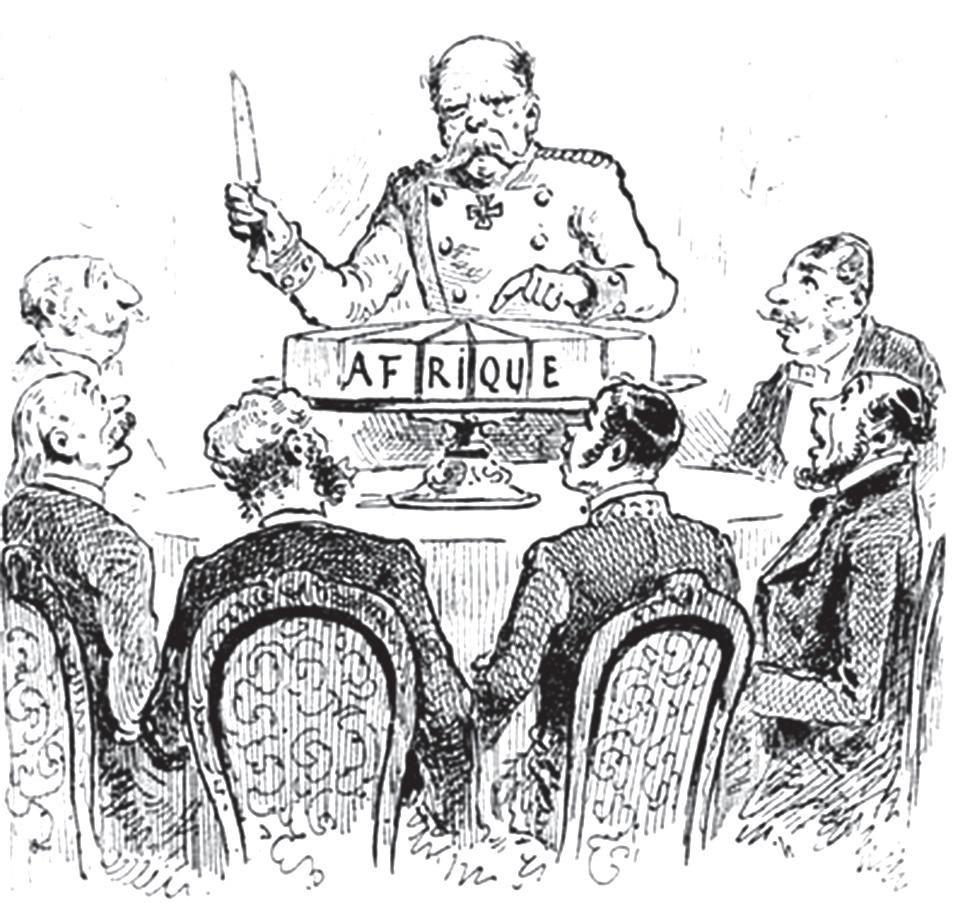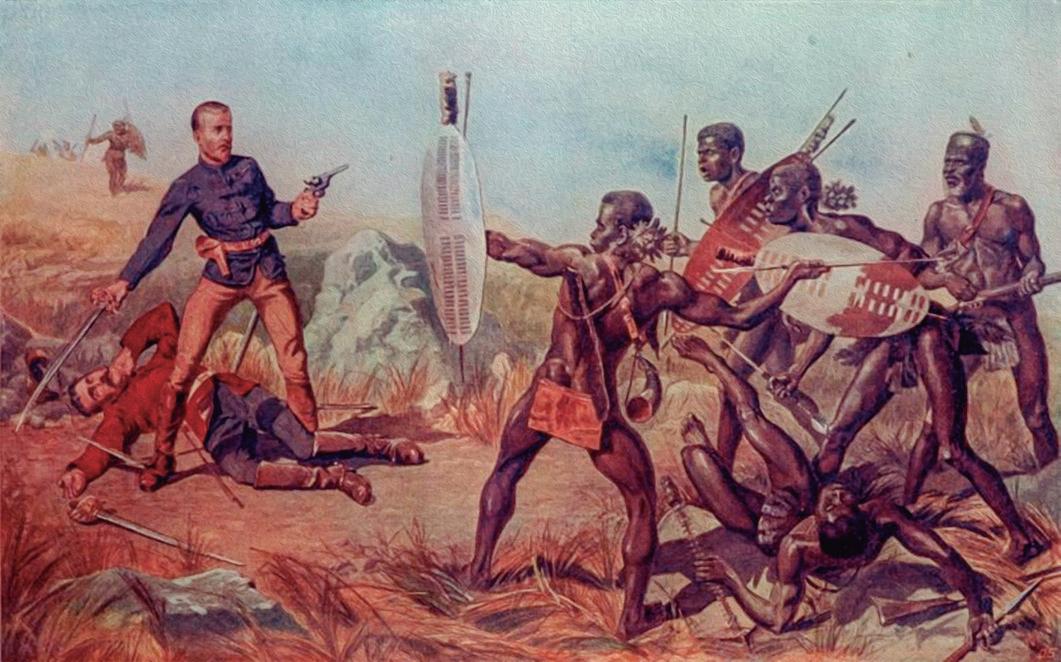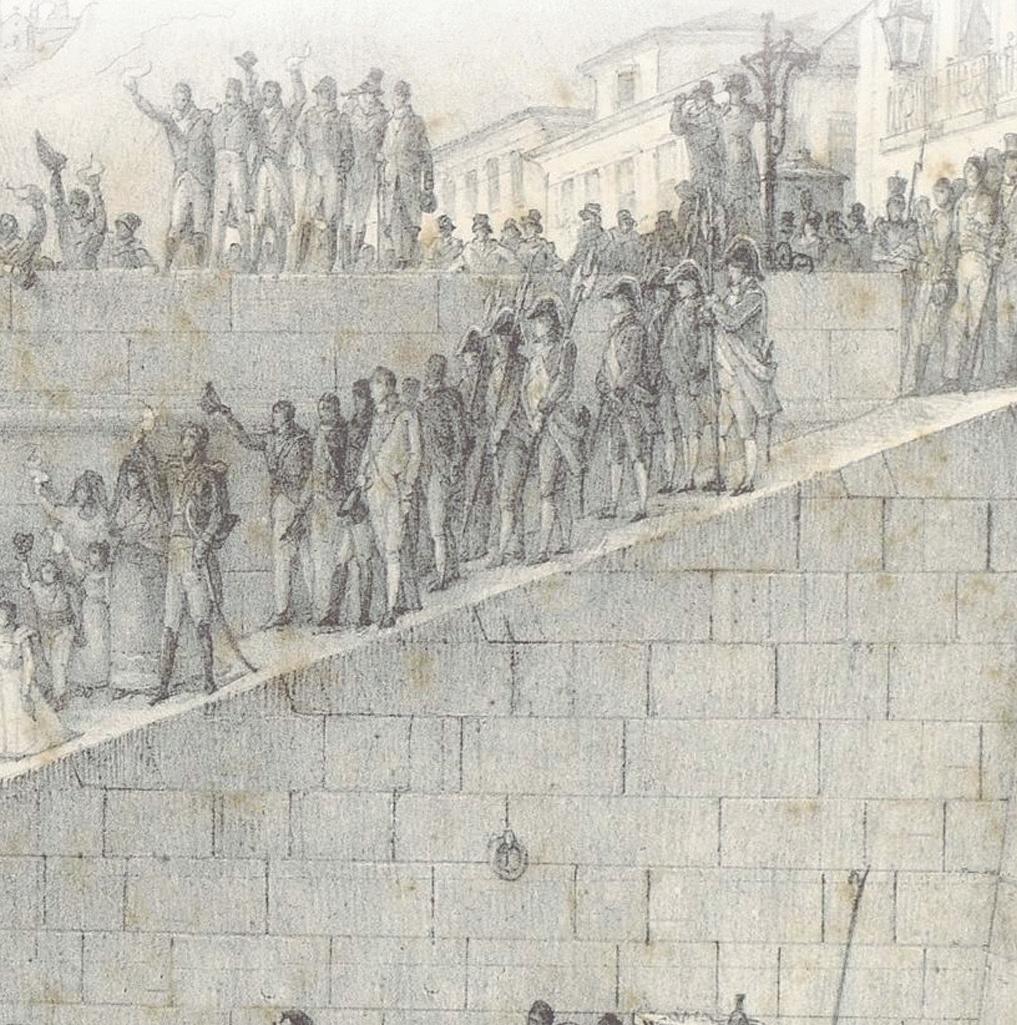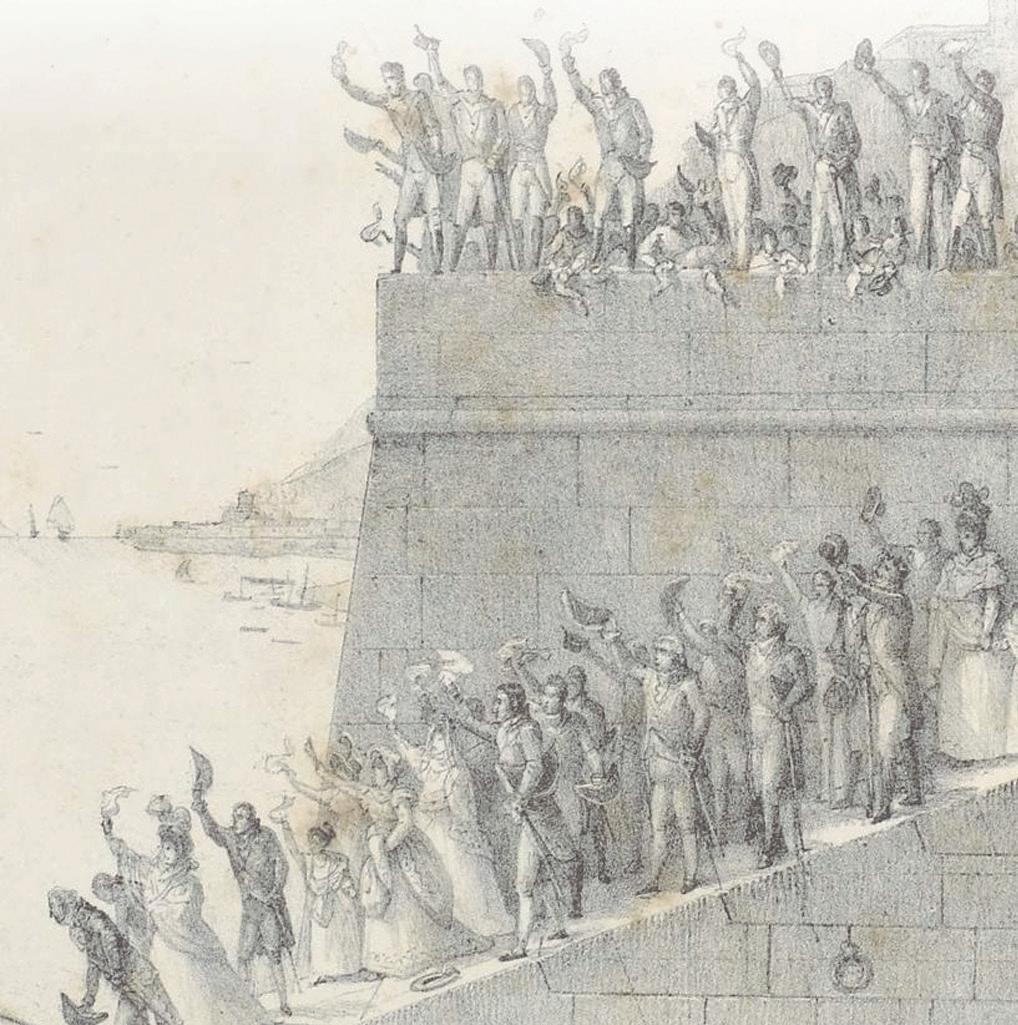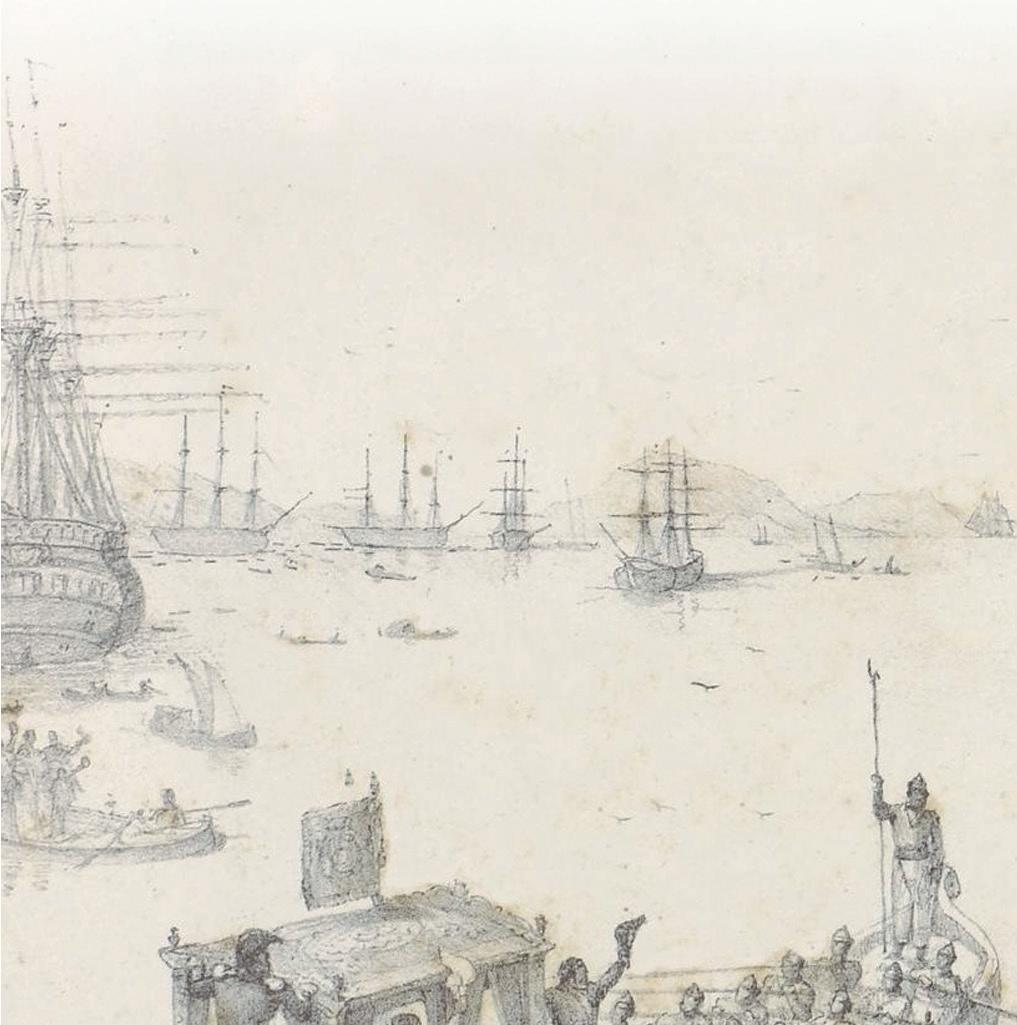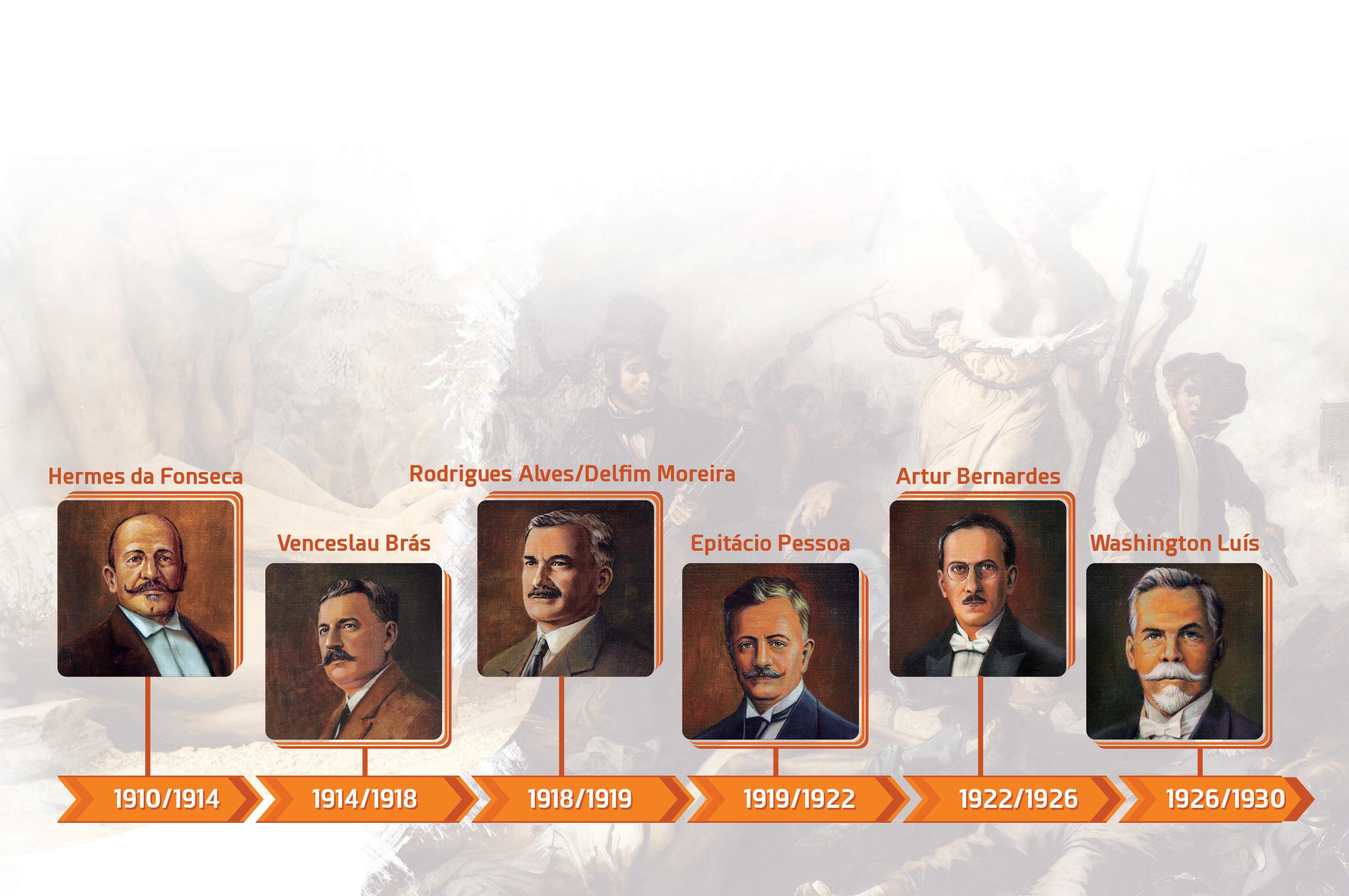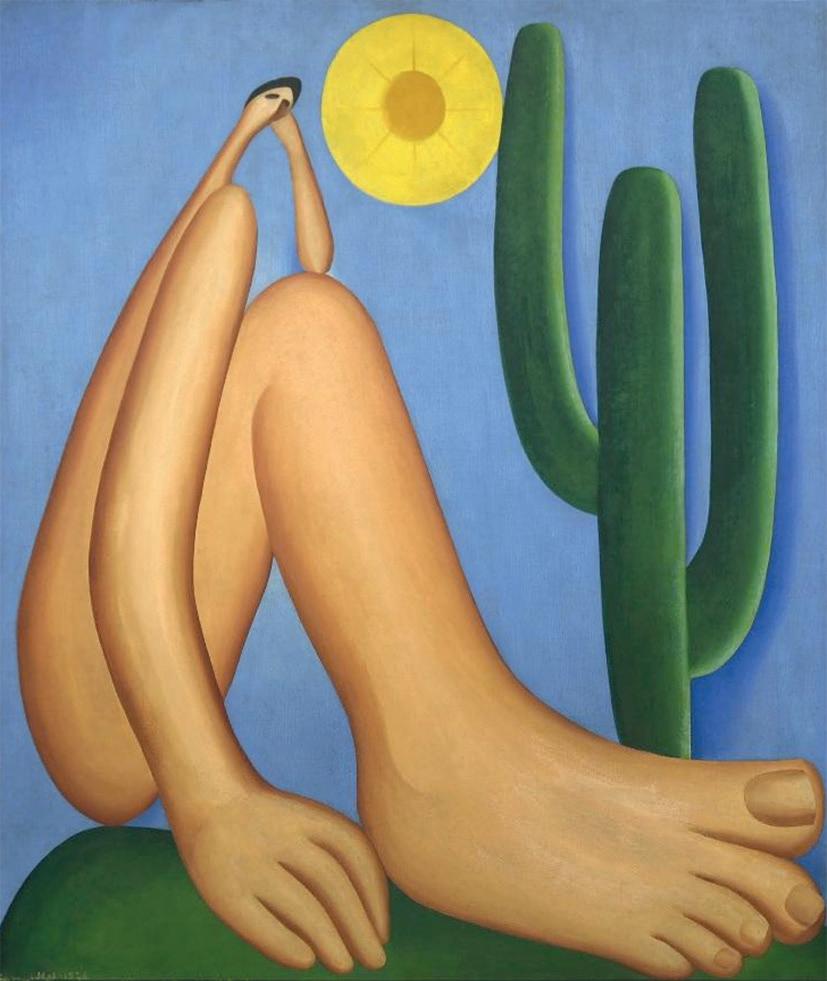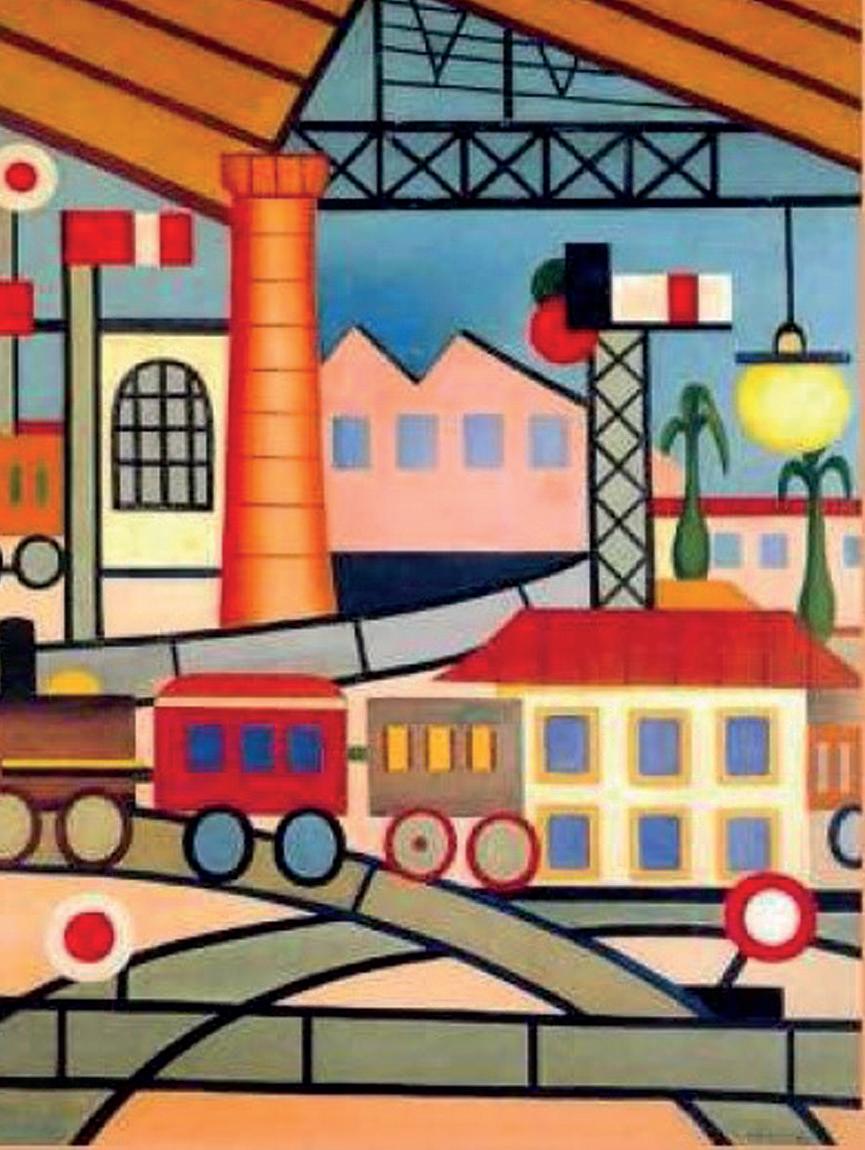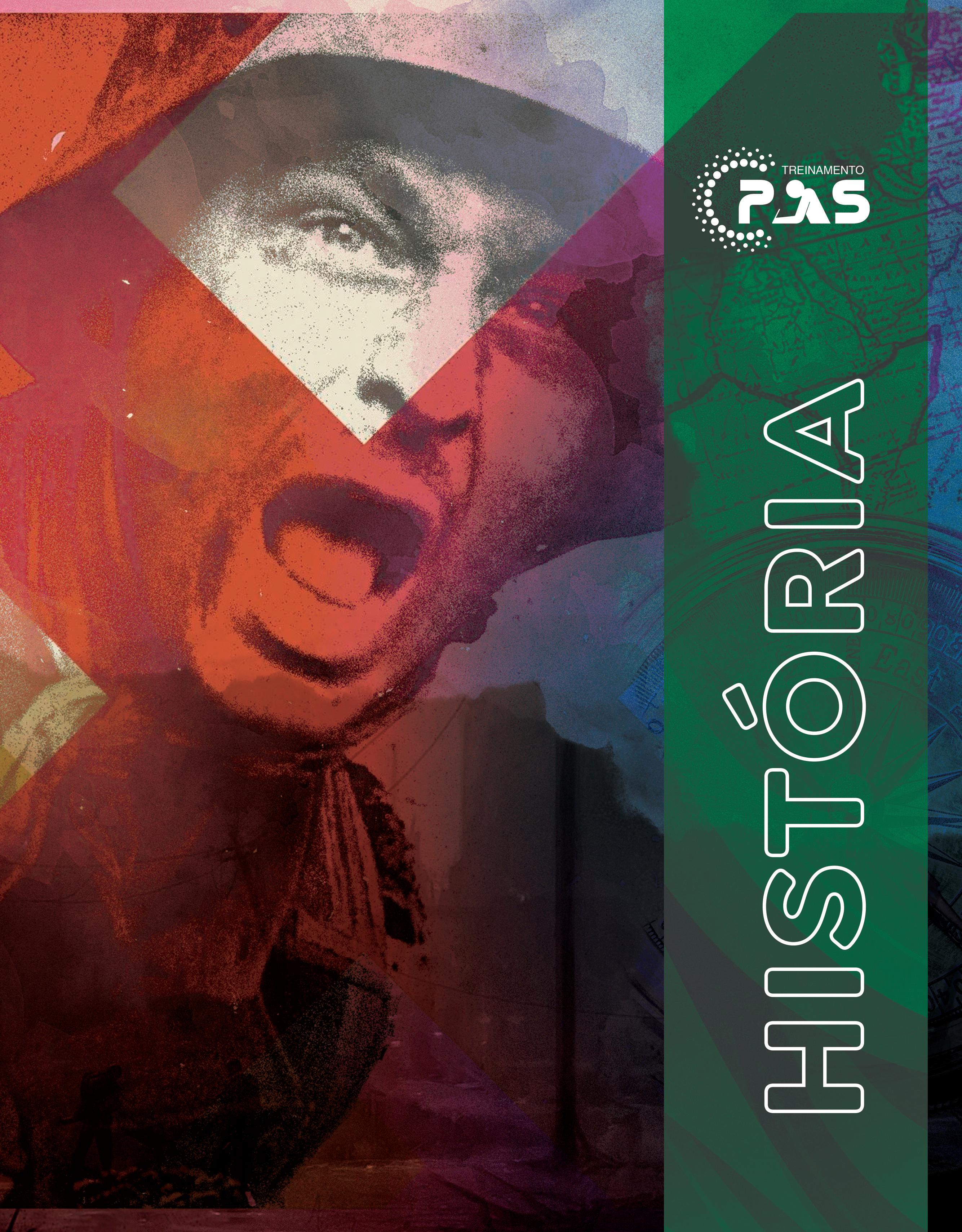

SUMÁRIO Frente A A01A02A03A04A05A06A07A08A09A10A11A12Iluminismo e Revolução Industrial 401 Revolução Francesa 407 Congresso de Viena, revoluções liberais europeias e ideias sociais do século XIX 412 Imperialismo e Primeira Guerra Mundial 419 Independência na América Latina 425 África: reinos africanos, colonialismo e resistência 428 A transferência da Corte portuguesa para o Brasil 440 Independência do Brasil 443 Primeiro Reinado 447 Período Regencial 451 Segundo Reinado 455 República das oligarquias 461 Gabarito 468
W ILUMINISMO E REVOLUÇÃO INDUSTRIAL
O Iluminismo, como corrente filosófica, forneceu elementos ideológicos dos quais a burguesia se apropria para questionar o Antigo Regime (o Absolutismo e o Mercantilismo), que limitava seu desenvolvimento. Para os iluministas, a intervenção do Estado na economia era um expediente inadequado, porque a economia deveria ser regida por leis naturais de competição (exemplo: lei da oferta e da procura). No nível político-ideológico, o Iluminismo criticava com asperidade o Absolutismo por este opor-se à ideia de soberania popular, da separação dos poderes, da liberdade religiosa e do direito do povo de se rebelar, caso o governo violasse os direitos naturais.
O Iluminismo ou Ilustração, movimento intelectual do século XVIII (Século das Luzes) baseado na razão e nas ciências, tinha como temas a liberdade, o progresso e o homem. A burguesia nele se amparou para promover as revoluções liberais dos séculos XVIII e XIX, o que possibilitou sua ascensão ao poder político, compatível com a sua força econômico-social.
O estudo da Ilustração nunca mais foi o mesmo após o holocausto, durante a Segunda Guerra Mundial. A crença ingênua no poder regenerador da razão inviabilizou-se. Estilhaçou-se a cômoda certeza de que as Luzes foram a filosofia da burguesia triunfante, e dos quatro pontos da Europa surgiram evidências acerca da amplitude e variação do fenômeno, que não caberia mais considerar nem apenas burguês, nem eminentemente francês, nem restrito ao século XVIII.
SOUZA, Laura de Mello. Origens e Fundamentos do Iluminismo Extraído do site: <http://revistadehistoria.com.br>. Adaptado.
Principais pensadores do liberalismo político
John Locke
Autor de Segundo Tratado do Governo Civil, Jonh Locke foi um ideólogo da Revolução Gloriosa, que pregava o direito do povo se rebelar, caso o governante violasse os direitos naturais. Defende a ideia de que os homens nascem em um “estado de natureza” em que todos são livres para exercer os direitos naturais e essenciais à vida (liberdade e propriedade). Foi o precursor da Teoria do Conhecimento, em que afirmava que as ideias não precedem a experiência, concluindo que o homem vem ao mundo sem nenhuma ideia preconcebida tendo, assim, sua mente como uma tábula rasa.
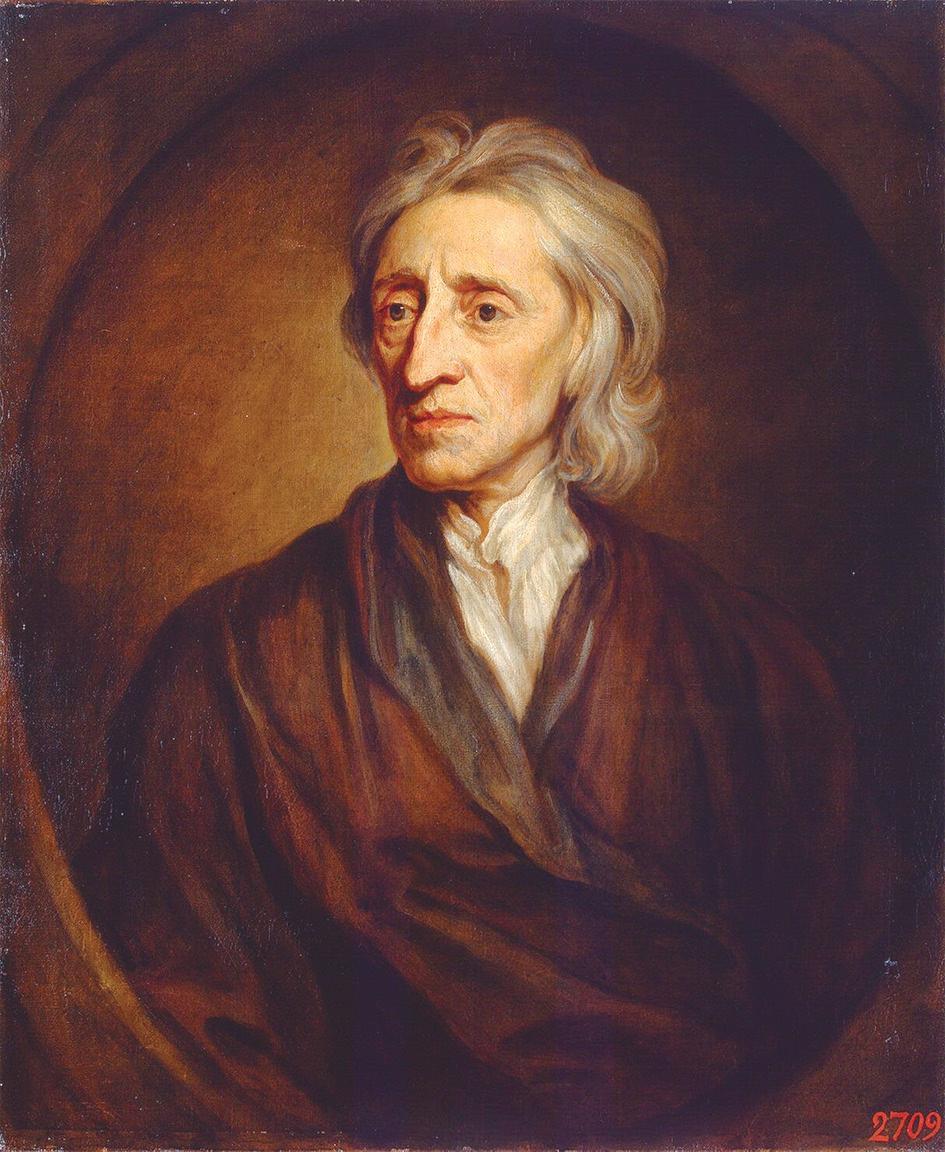
401 FRENTE HISTÓRIA
PAS 2
MÓDULO 01 A
Acesso
22
2014.
Fonte: <osmaioresdahumanidade.blogspot.com>.
em:
dez.
TREINAMENTO PAS PROVA ITENS 2007 2008 68 2009 2010 2011 59 2012 79 2013 72-74 2014 2015 30-31-38-39 2016 2017 2018 2019 51 2020 75-78 2021
Autor de Cartas Inglesas ou Cartas Filosóficas (no português), Voltaire foi o pensador que melhor encarnou o espírito do século XVIII. Defendia o direito do indivíduo à liberdade política e de expressão. Condenava o Absolutismo, mas defendia uma monarquia centralizada em que o governo seria assessorado por filósofos. Em seu pensamento é que se inspiram os déspotas esclarecidos. Do ponto de vista político, Voltaire é um reformista moderado e pragmático. A liberdade e a propriedade privada, uma sustentando a outra, são os dois pilares da sua política.
Montesquieu
Entre suas principais obras, destacam-se O Espírito das Leis e Cartas Persas. Para Montesquieu, não existia uma forma de governo ideal: cada país era um tipo de instituição política, de acordo com o seu progresso econômico e social. Sua mais importante contribuição foi a doutrina dos três poderes, baseada em Locke. Segundo Montesquieu, as palavras liberalismo e democracia não eram, pelo menos originariamente, sinônimas. A democracia e os democratas possuíam uma conotação popular que o liberalismo não tinha. Democracia significava “soberania popular”, enquanto o liberalismo se preocupava, exclusivamente, com um aspecto da soberania popular: as liberdades individuais.
Rousseau

Autor de O Contrato Social , Rousseau foi o mais radical e popular dos filósofos iluministas. Ele criticava a propriedade privada e desenvolveu a concepção da sabedoria popular: a vontade da maioria. Mesmo considerando a propriedade privada um mal, reconhecia-a como inevitável. A solução era a limitação da propriedade. Na sua principal obra, Rousseau advogava que a sociedade e o Estado nascem segundo arranjo entre diversas pessoas, em benefício de seus interesses comuns. O poder, ou soberano, é o próprio povo. Dessa forma, acabava sendo um crítico da ordem burguesa antes mesmo que ela se estruturasse definitivamente na França.
Diderot e D’alembert
A Enciclopédia, obra conjunta desses autores foi a grande obra de divulgação do pensamento filosófico do século XVIII. Segundo D’alembert:
a obra que começamos tem dois objetivos: como Enciclopédia, deve expor tanto quanto possível a ordem e o desencadeamento dos conhecimentos; como dicionário raciocinado das ciências, das artes e dos ofícios, deve conter sobre cada ciência e sobre cada arte, quer seja liberal, quer seja mecânica, princípios gerais que lhes sirvam de base e os pormenores mais essenciais que são seu corpo e substância.
Despotismo Esclarecido
O conceito “despotismo esclarecido” remete a uma forma de governo monárquico absolutista de caráter reformista. Esse governo buscava a modernização nos parâmetros dos ideais iluministas e liberais, mas de forma a garantir a manutenção do absolutismo.
Marquês de Pombal (Portugal) 1750 - 1777
n aumentou o controle do Estado sobre a economia;
n incentivou o comércio e as manufaturas;
n expulsou os jesuítas de Portugal e de suas colônias;
n procurou desenvolver uma educação leiga, sem influência da Igreja.
José II (Áustria) 1780 – 1790
n estimulou o desenvolvimento das manufaturas e da agricultura;
n liberou os servos de várias regiões do país;
n desenvolveu a educação;
n taxou as propriedades da nobreza e do clero.
Frederico II (Prússia) 1740 – 1780
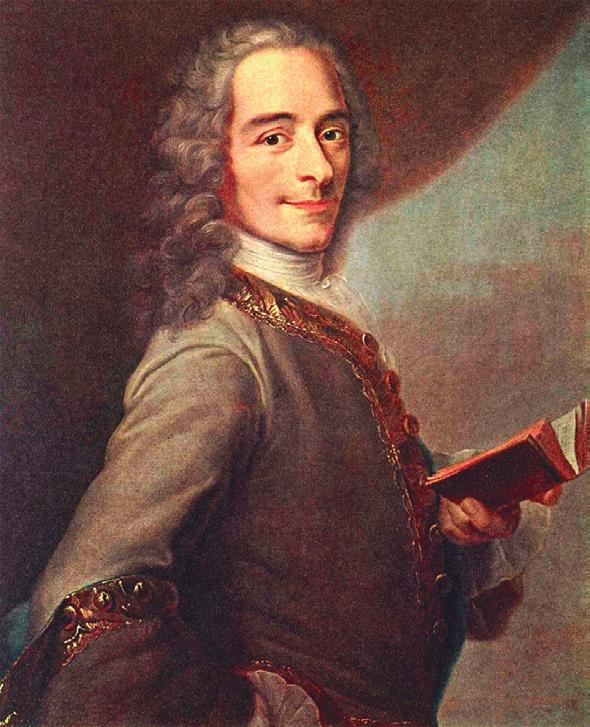
n organizou militarmente a Prússia;
n expandiu o território do país;
n estimulou o desenvolvimento industrial;
n incentivou a educação.
História 402 | PAS 2
Voltaire Extraído do site: <http://luxchristi.wordpress.com>. Acesso em 22 dez 2014..
Fonte: <pt.wikipedia.org>. Acesso em: 22 dez. 2014.
Catarina, a Grande (Rússia) 1763 – 1796
n incentivou a cultura; n promoveu transformações sociais baseadas nas ideias iluministas.
Economia e política: liberalismo econômico
Em fins do século XVIII e início do XIX, as condições materiais de vida alteraram-se drasticamente. A produção capitalista ganhava intensidade principalmente com a Revolução Industrial, que trouxe consigo a ideia do progresso e do desenvolvimento. Dessa forma, os valores do Antigo Regime tornam-se obsoletos, gerando a necessidade de mudanças em prol da burguesia em ascensão. Para se contrapor ao Mercantilismo, surge a economia política clássica, que se baseava no liberalismo econômico e refletia de forma mais acentuada as aspirações e os desejos da nova ótica capitalista.
Os economistas do século XVIII
Os fisiocratas foram os primeiros contestadores do mercantilismo, tendo como principais representantes Quesnay, Turgot e Gournay. O termo “fisiocracia" revela-se como um governo da natureza, uma vez que “para os fisiocratas" a riqueza da nação está condicionada à sua produção agrícola, o que garante a essa escola o nome “agrarianistas”. Ao contrário dos mercantilistas, consideravam o comércio uma atividade econômica estéril, que não produz riqueza e sim as trocas. Condenavam violentamente a intervenção do Estado na economia, fazendo com que a economia funcionasse impulsionada por leis naturais. Seu lema era: Laissez faire, laissez passer, le monde va de lui même (Deixe fazer, deixe passar, que o mundo anda por si mesmo).
Princípios do liberalismo econômico
n Inviolabilidade da propriedade privada e o individualismo econômico : pregava a propriedade privada como um direito natural e inviolável do ser humano, podendo fazer com ele o que melhor lhe aprouvesse desde que dentro dos parâmetros da lei. Afirmava ainda que toda atividade que gerasse benesses para um indivíduo acabaria gerando também para a sociedade, gerando assim uma prosperidade.
n O “laissez faire” ou liberdade de comércio e produção : o Estado não deveria intervir na economia, podendo, no máximo, atuar de forma subsidiária em áreas que não fossem do interesse dos agentes particulares. Caberia ao governo manter a paz para que a economia fosse regida livremente.
n A obediência às leis naturais da economia : pregava que a economia deveria se auto-organizar, sem
qualquer intervenção do Estado, para não quebrar sua ordem natural.
n A liberdade de contrato: propunha que as relações estabelecidas no sistema de trabalho, como salário, jornada de trabalho e outras, fossem regulamentadas diretamente entre empregador e empregado.
n A livre concorrência e o livre câmbio: propunha que com o fim da intervenção, os empresários deveriam produzir cada vez mais, com melhor qualidade e com preços mais baixos. Já o livre cambismo buscava a abolição de tarifas alfandegárias protecionistas, devendo o país somente produzir aquilo que melhor pudesse competir com os outros países.
Escola Clássica
A Escola de Manchester, mais conhecida como Escola Clássica, surgiu paralelamente à consolidação do modo de produção capitalista na Inglaterra, a partir da Revolução Industrial. Os novos teóricos defendiam a plena liberdade econômica, a liberdade de mercado, a propriedade privada e o individualismo econômico. Seus principais representantes foram:
Adam Smith (1723-1790)
E ste pensador atribuía grande importância à questão da divisão social do trabalho e por conseguinte à produtividade. Para o principal teórico da Escola Clássica, a riqueza de uma nação estava condicionada à sua capacidade produtiva, respeitando a liberdade de mercado, e a estimular a produtividade e a energia criadora do trabalho do homem. Para Heilbroner:
Qual a força que leva a sociedade a essa maravilhosa multiplicação dos bens e riquezas? Em parte é o próprio mecanismo do mercado, pois o mercado reveste o poder criador do homem de um meio que o estimula, até mesmo o força a inventar, inovar, expandir e correr riscos. Há, porém, pressões ainda mais fundamentais sob a atividade incessante do mercado. Na verdade, Smith vê leis profundas de evolução que impelem o sistema de mercado numa espiral ascendente de produtividade.
Thomas Robert Malthus (1766-1843)
Malthus investiga em suas obras as causas que provocam a miséria da humanidade. Segundo ele, a população aumentava em uma progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos aumentava em progressão aritmética.
Malthus defendia a contenção do aumento populacional. Sobre isso escreveu: “O homem só deveria casar-se e ter filhos quando dispusesse de recursos para sustentá-los. Caso contrário, deveria optar pelo celibato e pela castidade.
A01 y Iluminismo e Revolução Industrial 403
David Ricardo (1772-1823)
Foi o propositor da Lei Férrea dos salários, em que afirmava que o nível dos salários dos trabalhadores correspondia sempre ao mínimo imprescindível para garantir o seu sustento, permitindo-lhes perpetuar a espécie, sem aumentá-la ou diminuí-la. Na lei da renda diferencial da terra, afirmava que o preço dos alimentos era determinado pelo volume da produção das terras mais pobres cultivadas no país.
Revolução Industrial
As três Revoluções que se processaram desde meados do século XVIII até o início do século XIX (Americana, Industrial e Francesa) são o ponto de referência para uma profunda alteração econômica, social e política que acabaria por afetar todo o mundo. Essas revoluções marcam o início da Era Contemporânea. Embasadas em prerrogativas do Iluminismo europeu, tais movimentos marcaram a queda do Antigo Regime absolutista e deram início a uma nova era caracterizada por um “Novo Regime” de sociedades liberais, que se fez presente ao longo do século XIX.

em outros países. O grande desenvolvimento comercial favorecido pelo seu Império colonial havia criado condições para a acumulação de capitais que poderiam ser utilizados nessa nova etapa produtiva, impulsionando o processo de maquinofatura. Além disso, podem ser destacados outros elementos como base para a industrialização: a existência de uma burguesia politicamente forte, graças ao processo de limitação do poder real que se processou em virtude da Revolução Gloriosa; a existência de uma poderosa marinha mercante que foi viabilizada pelos Atos de Navegação empreendidos por Oliver Cromwell em 1651; grandes reservas carboníferas que deram o suporte da energia de que as novas indústrias necessitavam; e os reflexos dos enclosures, política de cercamentos dos campos ingleses que liberou grande contingente de mão de obra para as cidades além de garantir o fornecimento de uma das principais matérias-primas para as fábricas: a lã.
Diante desse quadro, deve-se buscar amplo entendimento acerca da Revolução Industrial como um dos pilares que garantiram o suporte dessa nova sociedade burguesa. Denomina-se Revolução Industrial o processo de desenvolvimento tecnológico que se inicia na Inglaterra em meados do século XVIII e que mais tarde se estenderia pelo resto da Europa e dos Estados Unidos, promovendo alterações substanciais nas suas economias, sociedades e políticas. Essa Revolução contribui para a desarticulação do antigo regime, possibilitando a consolidação do modelo capitalista de produção marcado pelo consumo em massa. Essa nova sociedade que se produziu a partir da Revolução Industrial teve como base para o seu desenvolvimento o crescimento demográfico, a ação de novas máquinas na indústria, na agricultura e nos transportes.

A Revolução Industrial não pode ser entendida como um fenômeno uniforme. O processo de revolução tem como pioneira a Inglaterra por essa nação concatenar elementos essenciais para o desenvolvimento das máquinas que não se produzia
Na Inglaterra, a indústria têxtil foi a primeira a aproveitar os avanços tecnológicos, como a lançadeira volante que diminuía brutalmente o tempo de execução do trabalhador. Pouco depois, surge a primeira máquina acionada por força hidráulica que fabricava tecidos finos de algodão. O invento de James Watt da máquina a vapor foi aplicado na indústria têxtil, sendo utilizado a posteriori, em outros setores industriais, além dos transportes, como ferrovias e embarcações.
As máquinas inventadas na Inglaterra foram um modelo a ser seguido pelos outros países da Europa, onde a industrialização foi um pouco mais tardia. Em meados do século XIX, outras nações já haviam se industrializado, como a França, a Bélgica e a Alemanha. A partir de 1850, o modelo de industrialização entra na sua Segunda Fase, quando o carvão e o ferro, que eram as bases motrizes dos primórdios da Revolução, serão gradativamente substituídos pelo petróleo e pela eletricidade.
História 404 | PAS 2
FIGuRA 01 - A Fundição de ferro em blocos, de Herman Heyenbrock, 1890.
Extraído do site: <http://pt.wikipedia.org>. Acesso em 22 dez 2014.
FIGuRA 02 - Ferro e Carvão, de Willian Bell Scott, 1860.
Fonte: <http://assuntosdiversos.com.br/>. Acesso em: 22 dez. 2014.
A revolução demográfica
De 1800 a 1900, há na Europa um grande aumento populacional. De aproximadamente 180 milhões de habitantes no início do século XIX, chega-se a 430 milhões nos primeiros anos do século XX. Só na Inglaterra, a mudança é de 11 milhões para 41 milhões no início do século XX. Os fatores que contribuíram para esse grande aumento são múltiplos, destacando-se como o principal, o progresso da medicina. O desenvolvimento da cirurgia, a descoberta do bacilo da tuberculose, o uso da anestesia e a adoção de medidas higiênicas nos hospitais evitaram mortes e contágios desnecessários. Além disso, é valido destacar o sistema de construção de redes de esgoto e a desinfecção das águas para as cidades. Outro fator importante é que também registrou-se o aumento da expectativa de vida, aumentando o contingente da população economicamente ativa.
A agricultura
A aplicação de novas técnicas de trabalho na agricultura, somada às novas invenções técnicas, contribuiu para o melhoramento do trabalho do homem. A utilização de arados triangulares e de outras inovações contribuiu sobremaneira para o aperfeiçoamento das técnicas produtivas no campo. Além disso, as novas aplicações da Química, associadas ao solo, criaram condições para um considerável aumento na produção da carne, de lã e peles.
O investimento em maquinário agrícola permitiu uma grande melhora nos cultivos e acabou por gerar uma acumulação de capitais que podiam ser investidos no aumento da produtividade como em outros setores da economia. Mesmo com a diminuição da população rural, em virtude da grande migração de camponeses para a cidade industrial, assim como outros países, a modernização da agricultura compensou esse decréscimo de mão de obra com o aumento do volume de produção.
A revolução nos transportes
A melhora gerada pela industrialização nos transportes é sentida a partir da utilização da máquina a vapor nas ferrovias e nas barcas. Uma das grandes ações desse empreendimento foi desenvolvida a partir de 1856, pelo processo Bessemer, que permitiu a utilização do aço na formatação fabril. A partir daí, o aço passa a ser o elemento básico na constituição de ligas metálicas utilizadas em locomotivas, cascos de barcos e outros utensílios fabris. A primeira linha de ferrovias foi aberta em 1825 entre Stockton e Darlington, sendo seguida pouco depois pela inauguração da linha regular Liverpool-Manchester. As consequências da utilização das ferrovias foram de grande importância para a economia ao facilitar o traslado de mercadorias e produtos agrários, permitindo a especialização de cultivos que seriam posteriormente exportados. Com isso, proporcionou o escoamento dos excedentes producionais e, mais tarde, abriu
caminho para a importação de todo tipo de artigos. Outro grande fator que pode ser destacado foi o impulso à indústria metalúrgica, em virtude da grande demanda de aço para fabricação de trilhos e vagões.
A revolução dos transportes facilitou a emigração. Outras consequências positivas foram a aproximação de centros produtores de centros consumidores, tanto nacional quanto internacionalmente; a especialização geográfica da produção; a abertura de vastas regiões ao comércio e à possibilidade de multiplicar o intercâmbio. No tocante ao caráter militar, é importante destacar a facilidade de deslocamento de tropas e equipamentos.
As consequências da Revolução Industrial
A Revolução Industrial impulsionou a revolução política e conduziu ao liberalismo. Em seu aspecto político, o liberalismo significa a existência de uma constituição, definindo direitos e deveres dos cidadãos de um determinado país, baseando na tripartição dos poderes e na existência de um parlamento que deve ser encarregado de produzir as leis.
Com relação à sociedade, a grande mudança que se produziu com a Revolução Industrial, assim como as outras revoluções burguesas, foi substituição do caráter estamental, estado em que o indivíduo adquire seu status por nascimento, por uma sociedade classista, em que a classe social estava determinada pelos bens materiais. Suas consequências imediatas foram o aumento do poder da burguesia e a consolidação do capitalismo como sistema econômico.
O capitalismo, baseado na propriedade privada dos meios de produção, criou condições para o aparecimento do proletariado, nova classe social formada por trabalhadores que viviam exclusivamente de seu salário e que tiveram sua vida marcada pela pobreza e pela miséria. Com salários baixíssimos, os trabalhadores laboravam em fábricas e minas por exaustivas jornadas. Não conseguiam nem mesmo manter suas necessidades básicas. Deve-se destacar que além do trabalho masculino, as fábricas também contavam com a mão de obra feminina e infantil. Essas pessoas eram submetidas a uma exploração ainda maior, pois recebiam salários menores.
Tais circunstâncias conduziram os trabalhadores a constantes lutas contra as injustiças e por melhores condições de vida e trabalho. Os operários manifestavam-se principalmente por meio de greves, porém, muitas vezes, chegavam a destruir as máquinas por julgarem-nas causadoras de sua condição de vida miserável. Diante desse quadro, o governo britânico foi o primeiro a estabelecer leis trabalhistas para pacificar as relações entre patrões e empregados.
Pouco a pouco, os outros países europeus foram adotando leis trabalhistas, o que não reduziu o distanciamento entre burguesia e proletariado.
A01 y Iluminismo e Revolução Industrial 405
EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO
01. (unB DF) Voltaire foi um defensor engajado do direito, um crítico da superstição e do fanatismo. Não pode haver, para ele, pior prisão do espírito do que as cadeias das crenças sem fundamento, dos dogmas sufocantes e das culpas sem falta. Em primeira linha escritor filosófico, Voltaire é tributário de Locke, Newton, Shaftesbury e dos deístas ingleses. Conquanto ele não possua a pujança de um Descartes, de um Spinoza ou de um Leibniz, Voltaire dá ao corpus idearum daqueles autores ingleses uma força de penetração, no espaço europeu continental, que eles mesmos não alcançariam. Reconhecendo aos “filósofos que se recolheram a seus gabinetes de trabalho” terem prestado os melhores serviços à humanidade, Voltaire considera-se antes um “prático”, para cujo sucesso valem os meios literários tanto quanto os filosóficos. Afinal, o grande combate de sua vida foi assegurar o direito de se pensar livremente e de agir segundo esse pensar: ou seja, uma finalidade eminentemente prática. Estevão C. de Rezende Martins. Tolerância e novo mundo –Voltaire diante do desconhecido.
In: Textos de História 7 (1–2), Brasília, 1999, p. 9 (com adaptações). Com referência ao texto acima, julgue os itens que se seguem, relativos ao lugar de Voltaire no Iluminismo. E-C-C-E
01. Desprezado como um autor menor em seu tempo, apenas recentemente Voltaire passou a ser visto como um grande pensador iluminista, a partir de nova leitura da sua contribuição à discussão da educação como fator de construção da liberdade individual.
02. O Iluminismo, como um movimento amplo na geografia múltipla da expansão das ideias, teve o mérito de aproximar, na obra de Voltaire, os autores liberais ingleses do ideário iluminista francês e europeu ocidental.
03. A “defesa do direito” e do “agir segundo o livre pensar”, marcas do pensamento iluminista, são contribuições presentes não apenas na obra de Voltaire, mas também no conjunto de autores do seu tempo.
04. Defensor da ideia de uma obra com orientações práticas, Voltaire dispensou severas críticas aos autores que, produtores de gabinete, desprezavam a contribuição literária ao pensamento filosófico.
02. (uFu MG) “[...] O racionalismo intelectual consciente dos séculos XVII e XVIII, que costuma ser designado com uma palavra imprecisa como “Iluminismo”, não deve ser entendido, de modo algum, somente no contexto da racionalidade burguesa e capitalista, já que existem fortes vínculos entre ele e a racionalidade de corte.”
ELIAS, Norbert. A sociedade de corte: investigação sobre a sociologia da realeza e da aristocracia de corte Rio de Janeiro: J. Zahar, 2001. p. 128. Considerando o contexto intelectual dos séculos XVII e XVIII na Europa, analise o trecho acima e marque a alternativa correta.
a) O trecho reforça a tese de que as Revoluções Científicas do século XVII e o Iluminismo são expressões culturais típicas do mundo burguês, portanto, em nada familiar à sociedade do Antigo Regime.
b) O trecho afirma que não há qualquer vínculo entre Iluminismo e racionalidade burguesa e capitalista, sendo, antes, expressão de uma racionalidade aristocrática de corte.
a)
c) O trecho sugere que a sociedade de corte, vigente na Europa antes da consolidação da hegemonia burguesa, não era irracional, mas possuía sua própria racionalidade, em nada estranha à filosofia e às ciências da época.
d) No trecho, o termo “Iluminismo” é considerado vago, pois só poderia ser empregado para designar correntes intelectuais depois da Revolução Francesa e não durante a vigência da sociedade de corte.
03. (uFT TO) Nas primeiras décadas do século XX, foi colocado em prática um sistema de produção industrial baseado na fabricação em larga escala, na especialização do trabalho e na linha de montagem, em especial na indústria automobilística. O sistema de produção citado era o
a) Fordismo.
b) Escalismo.
c) Taylorismo.
d) Capitalismo.
e) Padronismo.
04. (Fuvest SP) Sob qualquer aspecto, este [a Revolução Industrial] foi provavelmente o mais importante acontecimento na história do mundo, pelo menos desde a invenção da agricultura e das cidades. E foi iniciado pela Grã-Bretanha. É evidente que isto não foi acidental.
Eric Hobsbawm, A Era das Revoluções São Paulo: Paz e Terra, 2005. 19ª edição, p. 52. A Revolução Industrial, ocorrida na Inglaterra nos decênios finais do século XVIII,
a) deveu-se ao pioneirismo científico e tecnológico dos britânicos, aliado a uma grande oferta de mão de obra especializada e a uma política estatal pacifista e voltada para o comércio.
b) originou-se das profundas transformações agrárias expressas pela concentração fundiária, perda da posse da terra pelo campesinato e formação de uma mão de obra assalariada.
c) vinculou-se à derrocada da aristocracia e à ascensão da burguesia, orientada pela política mercantilista e sintetizada na filosofia de Adam Smith.
d) resultou da supressão de leis protecionistas de inspiração mercantilista e do combate ao tráfico negreiro, com vistas à conquista de mercados externos consumidores.
e) decorreu da ampla difusão de um ideário Ilustrado, o qual teria promovido aquilo que o sociólogo alemão Max Weber descreve como o “espírito do capitalismo”.
05. (unicamp SP) Na Europa, até o século XVIII, o passado era o modelo para o presente e para o futuro. O velho representava a sabedoria, não apenas em termos de uma longa experiência, mas também da memória de como eram as coisas, como eram feitas e, portanto, de como deveriam ser feitas. Atualmente, a experiência acumulada não é mais considerada tão relevante. Desde o início da Revolução Industrial, a novidade trazida por cada geração é muito mais marcante do que sua semelhança com o que havia antes.
(Adaptado de Eric Hobsbawm, O que a história tem a dizer-nos sobre a sociedade contemporânea?, em: Sobre História. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 37-38.)
a) Segundo o texto, como a Revolução Industrial transformou nossa atitude em relação ao passado?
b) De que maneiras a Revolução Industrial dos séculos XVIII e XIX alterou o sistema de produção?
História 406 | PAS 2
Segundo o texto, antes da Revolução Industrial, o passado era visto como um modelo e os velhos representavam a sabedoria e a experiência. Depois da Revolução Industrial, a experiência perdeu importância, porque o que caracteriza cada geração não é mais a sua semelhança com a anterior, mas a sua novidade.
b) A Revolução Industrial dos séculos XVIII e XIX, entre outras transformações, mecanizou a produção, levando à perda do controle por parte do trabalho sobre o processo de trabalho. Isso foi o fim do artesanato como sistema de produção predominante e deu origem ao sistema fabril.
W REVOLUÇÃO FRANCESA
As ideias do Iluminismo e o processo de independência das Treze colônias da América do Norte influenciaram fortemente a burguesia francesa, que, sentindo-se limitada pelo atraso social do país, seria a propulsora de uma grande revolução.
A Revolução Francesa de 1789 abre o período conhecido como Idade Contemporânea. A crise política, social e econômica ocorrida na França durante os anos de 1789 a 1799 desordenou o sistema de governo e a forma de vida dos franceses. Esse processo histórico é considerado como um dos acontecimentos mais impactantes da história da humanidade, pois tinha como lema princípios como a liberdade, a igualdade e a fraternidade e acabou servindo de exemplo para grande parte dos eventos vindouros.

A França pré-revolucionária
A França contava, no século XVIII, com uma população de aproximadamente 24 milhões de habitantes, uma manufatura têxtil e um florescente comércio exterior, sendo o país mais populoso e rico da Europa. Em todos os países do Ocidente, o francês era a língua culta e Paris era considerada o centro da cultura do mundo ocidental.
Contudo, a monarquia francesa teve seu desenvolvimento interno estancado e sofreu sérios reveses em sua política internacional. Na França, centro do Iluminismo, não houve monarcas esclarecidos. O Absolutismo foi se tornando ineficiente, uma vez que as reformas exigidas pelas novas ideias e pelas novas condições sociais não foram realizadas. Dessa maneira, a partir da metade do século XVIII, ocorreu um profundo antagonismo entre o Estado e a sociedade, principalmente em virtude do despotismo do monarca e dos privilégios de alguns estratos sociais.
Um dos problemas mais graves a atingir a França eram as desigualdades sociais, que ainda possuíam fortes resquícios feudais, apresentando uma rígida divisão por estamentos, característica desse sistema. Em toda sociedade do Antigo Regime, os direitos, as condições de vida e o status de cada pessoa estavam determinados pelo estamento a que ela pertencia. Porém, no século XVIII, essas condições de desigualdade tornavam-se anacrônicas e chocavam-se com as realidades sociais, econômicas e com o novo pensamento pautado na Ilustração.
Em uma população de 24 milhões de habitantes, o Clero (Primeiro Estado) era composto por cerca de 130 000 pessoas e detinha grande parte das terras. A nobreza (Segundo Estado) somava aproximadamente 200 000 pessoas e tinha preferência para os altos cargos da administração civil, judicial e das forças armadas.
TREINAMENTO PAS
407 FRENTE HISTÓRIA
02 A PAS 2
MÓDULO
F IG u RA 01 - Sátira dos três Estados. Fonte: <http://collegehg.perso.sfr.fr/>. Acesso em: 21 nov. 2016
PROVA ITENS 2007 2008 2009 2010 2011 26 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
O Terceiro Estado compreendia a maior parte da população francesa e podia ser dividido em três grupos. A parte mais alta era formada pela burguesia, que contava com homens de negócio, industriais, banqueiros, médicos, advogados entre outros. Durante algum tempo, esses membros da alta burguesia podiam ascender à nobreza, comprando ou obtendo títulos. Porém, ao longo do século XVIII, a nobreza foi se fechando e os membros da alta burguesia pararam de ter acesso a ela. Daí em diante, a alta burguesia passa a condenar os privilégios de nobreza e busca reformas radicais para a sociedade francesa.
Abaixo da burguesia estavam as classes médias urbanas, que compunham um grupo heterogêneo de artesãos, serventes e operários. Suas condições eram cada vez piores, em virtude de seus rendimentos não serem compatíveis com o aumento dos preços dos produtos. Além deles, era ainda marcante a presença dos sans-cullotes, uma massa de pobres urbanos que seria de grande importância no curso do processo da revolução devido aos seus anseios de liberdade e igualdade e da disposição para atingi-los.
O último grupo era formado por camponeses que compunham 80% da população francesa. Eles eram submetidos a obrigações e contribuições servis, ficando a mercê do poder senhorial.
Diante dessas condições, o problema central das desigualdades sociais era somado, ainda, a um sistema tributário ineficiente e altamente prejudicial ao Terceiro Estado. O clero e a nobreza não pagavam impostos porque pela lei e pelas tradições estavam isentos. Desse modo, a tributação recaía exclusivamente ao Terceiro Estado, principalmente aos camponeses, que eram os mais pobres. Isso comprovava um paradoxo na França, pois a nação tinha uma economia próspera, contrastada a um governo ineficiente, marcado por luxos e desregramentos que carecia constantemente de recursos.
As causas da Revolução Francesa
Existiu uma série de causas que contribuíram para o desencadeamento da Revolução Francesa, entre fatores ideológicos, políticos, sociais e econômicos, embora a maioria dos historiadores manifestem que os últimos tenham sido os mais importantes. No final do século XVIII, a França estava arruinada e a administração do Estado não conseguia resolver os problemas financeiros e produtivos. Além disso, a dívida pública aumentava, forçando o governo a recorrer a altos empréstimos que agravavam ainda mais o déficit público. Outro fator a ser destacado foi a escassez de alimentos gerada por vários anos de más colheitas, o que ocasionou uma crise de abastecimento para a grande maioria da população francesa ao longo do século XVIII. Os camponeses, operários, comerciantes e burgueses, pertencentes todos ao Terceiro
Estado, manifestavam um grande descontentamento, que iria constituir o elemento propulsor para a revolução.
A França vivia uma profunda crise financeira antes da revolução. Participações em conflitos, como a Guerra dos Sete Anos e a Independência dos EUA, acarretaram em gastos vultosos. Os enormes custos com a manutenção da Corte em Versalhes também comprometiam as finanças públicas, assim como a isenção de impostos ao clero e à nobreza. Um tratado de comércio com a Inglaterra previa facilidade para a venda de vinho francês em troca de facilidade de entrada de tecido inglês na França, causando revolta na burguesia francesa, que não podia competir com o baixo custo do produto inglês. Fatores climáticos que prejudicaram a produção agrícola, assim como as barreiras feudais à produtividade, elevaram o preço do trigo, tornando até o pão um elemento de difícil acesso à população pobre, o que agravou a miséria e o descontentamento.
Além do caos administrativo, o governo dos últimos reis da dinastia dos Bourbons, Luís XV e Luís XVI, não aparentavam ter compromisso com a solução dos problemas que assolavam a França. O poder centralizado nas mãos do rei era contestado pelos ideais iluministas que questionavam a ordem do Antigo Regime. As ideias iluministas já faziam parte do ideário político do Terceiro Estado, assim como cresciam os adeptos às ideias liberais no campo econômico. A Assembleia dos Estados-Gerais, com suas atribuições consultivas, não era convocada por um monarca francês desde 1614, o que demonstrava o grau de centralização política na França.
A incessante crise econômica e as seguidas revoltas dos camponeses levaram a monarquia a tentar promover reformas que amenizassem a situação, mas o que se viu foram seguidas reformas frustradas por conta da relutância da nobreza em ceder partes de seus privilégios. As crises ministeriais seguiram-se com a demissão sequencial de ministros como Turgot, Calonne, Briene e Necker, que não resistiram à pressão da nobreza. Calonne havia tentado criar um imposto territorial que atingisse a nobreza, mas foi demitido sem que seu projeto fosse, sequer, analisado pela Assembleia dos 144 Notáveis designados pelo rei. Necker, que havia sido demitido após publicar um relatório com os gastos da Corte, retornou ao cargo de ministro das finanças e convenceu o rei a convocar a Assembleia dos Estados-Gerais.
Assembleia dos Estados-Gerais (1788)
Os Estados-Gerais se reuniram em Versalhes, em 5 de maio de 1788, sendo composto por representantes dos notáveis (Primeiro e Segundo Estados) e o Terceiro Estado. Embora o Terceiro Estado possuísse a maioria de deputados, a vantagem contabilizada era dos notáveis, já que o voto era por estado e não por indivíduo. Assim, unidos, o Primeiro e o Segundo Esta-
História 408 | PAS 2
dos sempre sairiam vitoriosos nas votações. O Terceiro Estado insistia que o voto fosse contabilizado por cabeça, mas o rei sustentava seu apoio aos notáveis. Isso levou o Terceiro Estado a se retirar e se reunir separadamente na quadra do Jogo da Péla, afirmando que não iria se dispersar até que o rei aceitasse uma constituição que pusesse limites ao seu poder e, assim, se autoproclamaram “Assembleia Nacional”.
Assembleia nacional constituinte (1789-1791)
Não conseguindo dissolver a reunião do Terceiro Estado, Luís XVI cede e permite a formação da Assembleia Nacional Constituinte, que deveria promulgar uma constituição à qual o rei se submeteria. Rumores de uma conspiração por parte da nobreza e da realeza, somados ao posicionamento de tropas próximas a Paris e à demissão de Necker, fizeram com que o temor tomasse conta dos revoltosos, dando-se, assim, o estopim da insurreição.
Em 14 de julho, os insurrectos tomaram a Bastilha, símbolo do Antigo Regime, onde eram mantidos os presos políticos. Revoltas camponesas se alastravam por toda parte. O temor de algo pior fez com que os três estados forçosamente abolissem os direitos feudais. Logo em seguida, foi feita a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, com base nos ideais de liberdade, igualdade, direito à propriedade privada e de resistência à opressão. Os bens do clero são confiscados e passam a servir de lastro para a emissão dos assignats, que eram uma espécie de papel moeda. A desigualdade de impostos entre os estados também foi abolida.
Assembleia legislativa e monarquia constitucional (1791-1792)

Em setembro de 1791, a Constituição fica pronta e se estabelece a Monarquia Constitucional de base censitária. Os cidadãos que possuíssem uma determinada renda poderiam ter direitos políticos. A Assembleia, composta por deputados, possuiria o poder legislativo e ao rei caberia o poder executivo, sendo que a monarquia permaneceria hereditária. Embora o rei Luís XVI tenha se negado, em princípio, a acatar a Constituição e tentado fugir da França, foi preso em Varennes e reconduzido a Paris, onde foi forçado a assinar o documento em julho de 1791.
A burguesia conseguiu se separar do Terceiro Estado e a nova legislação, que limitava a atividade política dos trabalhadores e eliminava privilégios da nobreza, estendendo restrições econômicas à maioria, transformava a França em um estado burguês, em que grupos políticos, como o dos girondinos (alta burguesia) e jacobinos (baixa burguesia), disputavam o poder.
A nobreza francesa passou a buscar apoio no exterior para restaurar o Estado absolutista ao mesmo tempo em que as dificuldades econômicas permaneciam no governo revolucionário. No momento em que o exército absolutista (formado em parte por nobres emigrados) marchou sobre o território francês, os jacobinos forneceram armas à população, constituindo um exército popular conhecido como “a comuna insurrecional de Paris”, enfrentando o exército dos emigrados e prussianos na Batalha de Valmy. O exército popular obteve vitória sob o comando de Robespierre, Marat e Danton, sendo, o rei, acusado de traição por colaborar com os inimigos. Assim, finalmente foi proclamada a República.
Convenção nacional (1792-1795)
Com o fim da Monarquia e o advento da República, tem-se o início do período da Convenção Nacional, que se divide em dois momentos: a República Girondina (setembro de 1792 a junho de 1793) e a República Jacobina (junho de 1793 a julho de 1794). O período girondino, que é caracterizado pelo comando da alta burguesia, é marcado por medidas moderadas destinadas a preservar a propriedade privada e a alijar as massas populares do poder. Com o processo de Luís XVI, após serem descobertos acordos secretos do rei com soberanos estrangeiros, a disputa entre girondinos e jacobinos se tornou mais acirrada e foi determinada a condenação do rei à morte, para escândalo das monarquias estrangeiras.
A02 y Revolução Francesa 409
F IG u RA 02 - Rei Luiz XVI. Extraído do site: <https://upload.wikimedia.org>. Acesso em 05 dez 2016.
Em um momento em que conturbações internas e externas se avolumavam, os jacobinos tomam o poder com apoio dos sans-cullotes (indivíduos das camadas mais baixas) e conseguem grande apoio ao propor medidas populares como a atribuição do direito universal do voto. No período jacobino a escravidão é abolida nas colônias e os camponeses deixam de ter a obrigação de indenizar os antigos senhores. Além disso, é criada a “Lei do Máximo”, fixando um teto para preços e salários e é organizado também um exército revolucionário e popular para enfrentar as ameaças externas. O poder executivo passa a ser exercido pelo Comitê de Salvação Pública e o Comitê de Segurança Geral passa ter a função de descobrir suspeitos de traição. Em junho de 1794, inicia-se o período do Grande Terror, após Robespierre guilhotinar seus principais opositores e implementar uma política de punição aos suspeitos de conspiração. A economia, nesse momento, é dirigida com vistas à defesa da Nação e em benefício da média burguesia, ficando as massas populares insatisfeitas com o teto máximo salarial e a proibição das greves.
Com a população cansada da repressão e a alta burguesia irritada com o dirigismo econômico, a convenção vota a detenção de Robespierre em 27 de julho de 1794 (9º Termidor).
Após Robespierre e seus apoiadores serem guilhotinados sem julgamento, tem-se o fim da Convenção Montanhesa e inicia-se a Convenção Termidoriana, com os girondinos de volta ao poder. As políticas sociais e econômicas implementadas pelos jacobinos sofreram um revés e os apoiadores de Robespierre foram perseguidos. Esse fato ficou conhecido como “Terror Branco”. A experiência de radicalismo democrático da Repú-
EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO
01. (uCB DF) Ao longo do século 18, vários intelectuais franceses elaboraram um pensamento que questionava a sociedade comandada pelos monarcas absolutos e recusavam por completo inúmeras instituições que sobreviviam desde os tempos medievais, como a servidão. Tinha início a Revolução Francesa.
VAINFAS, Ronaldo et al. História: o longo século XIX. Vol. 2. São Paulo: Saraiva, 2010.
A respeito da Revolução Francesa, assinale a alternativa correta.
a) Foi o marco inaugural, no mundo ocidental, dos tempos contemporâneos.
b) Baseou-se na desobediência civil e na resistência pacífica dos trabalhadores franceses.
c) Os ideais pregados pela revolução foram sufocados pela burguesia francesa.
d) Os revolucionários franceses defendiam o Estado Absolutista.
e) O alto clero e a nobreza apoiavam a luta pelo fim dos privilégios.
02. (uFu MG) Uma verdadeira paixão pelos Estados Unidos tomara conta dos franceses nos anos que precederam a revolução, como testemunham Chateaubriand e o próprio Franklin, que escrevia de Paris a seus correspondentes americanos: “aqui é comum dizer que nossa causa é a do gênero humano”. Além do mais, essa república fora fundada por colonos com quem a França tecera contra a Ingla-
blica Jacobina fica para trás e, em seguida, inicia-se a fase do Diretório com o rápido declínio dos ideais republicanos.
Diretório (1795-1799)
Preocupada com uma reação monarquista e com os levantes populares, a burguesia termidoriana cria, em 1795, uma nova Constituição (do Ano III) e determina a existência da Câmara dos Quinhentos e Câmara dos Anciãos para representarem o poder legislativo. O poder executivo ficaria a cargo do Diretório, formado por cinco membros, com a finalidade de estabilizar a revolução. Externamente, o exército francês passou a obter seguidas vitórias sob o comando do general Napoleão Bonaparte que, por meio de um golpe de Estado, viria a assumir o poder em 1799, com apoio de boa parte da burguesia no 18 de Brumário, que marcou o fim da Revolução Francesa.
Consequências da Revolução Francesa
Em síntese, a Revolução Francesa significou o primeiro grande sucesso da burguesia no sentido de conquistar o poder político e dirigir o Estado de maneira a satisfazer interesses. Diante desse processo, essa revolução deixava para trás os entraves do absolutismo e do mercantilismo, implementando suas propostas liberais após canalizar as insatisfações das camadas populares, porém, beneficiando principalmente a si própria. Além disso, a Revolução Francesa teve um alcance muito além da história francesa, pois impulsionou a ascensão da burguesia em toda a Europa, acelerando o colapso do Antigo Regime.
terra uma aliança vitoriosa: os que tinham se engajado na aventura eram conhecidos por ter sofrido [...] de “inoculação americana”.
OZOUF, Mona. Varennes: a morte da realeza, 21 de junho de 1791 São Paulo: Companhia das Letras, 2009. p. 175-176 (Adaptado). A historiografia é consensual em afirmar que o movimento revolucionário francês e os ideais iluministas foram de grande importância para diversas lutas coloniais ocorridas na América. Menos estudada é a influência que os norte-americanos exerceram sobre os revolucionários franceses. Essa influência pode ser explicada, para além dos fatores mencionados na citação de Mona Ozouf,
a) pela forte tradição liberal dos colonos norte-americanos que, durante a luta pela independência, foram contrários a toda forma de exploração do trabalho.
b) pelo forte apelo simbólico que exercia o exemplo norte-americano de emancipação colonial, visto como caso modelar de luta contra a opressão dos poderes instituídos.
c) pelo desprezo que os colonos norte-americanos tinham em relação à religião, vista por eles como braço aliado do poder da metrópole inglesa, contra a qual deveriam lutar.
d) pela defesa da doutrina fisiocrata que, no plano político, se traduzia na permanência de privilégios constitucionais para as camadas senhoriais.
História 410 | PAS 2
Questão 06 a) A leitura do gráfico indica que os custos com a produção e com os impostos representavam 65% da colheita realizada pelos camponeses. Desta forma, o usufruto do menor percentual da colheita disponível às pessoas do campo significava a existência de precárias condições de vida para as famílias numerosas, sendo que a miséria e a fome eram riscos constantes no período prérevolucionário.
modo teórico e prático a viabilidade de um grande Estado republicano e democrático.
05. (uFu MG) As mães, as filhas, as irmãs, representantes da Nação pedem ser constituídas em Assembleia Nacional. Considerando que a ignorância, o esquecimento ou o menosprezo dos direitos da mulher são as únicas causas das desgraças públicas e da corrupção do governo, resolvemos expor, numa declaração solene, os direitos naturais, inalteráveis e sagrados da mulher. Em consequência, o sexo superior em beleza, como em coragem nos sofrimentos maternais, reconhece e declara, em presença e sob os auspícios do Ser Supremo, os seguintes direitos da mulher e da cidadã.
Art. 1 - A mulher nasce livre e permanece igual ao homem em direitos. As distinções sociais não podem ser fundadas, senão, sobre a utilidade comum.
Art. 2 - A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis da mulher e do homem. Estes direitos são: a liberdade, a prosperidade, a segurança e, sobretudo, a resistência à opressão.
Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. 1791. (adaptado)
Eau-forte en couleurs, [Paris, s. nom d’éd., 1789]. Paris, BNF, Estampes, Qb1 1789 (mai). Disponível em: http://expositions.bnf.fr/daumier/grand/815.htm. Acesso em 20 de outubro de 2016.

A charge de 1789 apresenta crítica a uma das características da sociedade francesa, às vésperas da Revolução Francesa. Essa crítica se refere ao fato de essa sociedade ser:
a) hierarquizada em ordens controladas pela Igreja, o que tornava o ingresso na vida religiosa a única forma de ascensão social.
b) organizada em classes e atribuir a todas as mulheres a responsabilidade de cuidar da família e manter o ordenamento social.
c) estruturada em estamentos mantidos por rígidas regras de obediência ao rei, o que impedia a existência de conflitos de classe.
d) dividida em três estados, dos quais o estado composto pela burguesia e pelo povo era o que sofria com as desigualdades perante as leis e os impostos.
04. (Fuvest SP) É difícil acreditar que a Revolução Francesa teria sido muito diferente, mesmo que a Revolução Americana nunca tivesse acontecido. É fácil mostrar que os americanos não tentaram uma semelhante ruptura substancial com o passado, como fizeram os franceses. No entanto, (...) as duas revoluções foram muito parecidas.
Robert R. Palmer, The Age of The Democratic Revolution: The Challenge, Princeton, Princeton University Presse, vol I 1959, p.267. Com base no texto e em seus conhecimentos acerca da Revolução Francesa e do revolucionário processo de independência dos Estados Unidos, assinale a afirmação correta.
a) A revolução norte-americana repercutiu pouco nos movimentos liberais da Europa e, mesmo na França da época da Ilustração, seu impacto foi mais de ordem econômica do que política.
b) O processo de independência dos Estados Unidos foi marcado pela ausência de divisões internas entre os colonos e pela exclusão das camadas populares da sociedade no processo político.
c) O processo de independência dos Estados Unidos foi consumado pela redação de uma Constituição, cuja elaboração ficou a cargo de notáveis, que representavam os interesses das classes proprietárias.
d) A guerra da independência norte-americana caracterizouse pela ausência de radicalismo político e social, o que se deveu à menor penetração dos ideais Ilustrados nos últimos anos do período colonial.
e) A revolução norte-americana repercutiu não só na Ilustração europeia e na Revolução Francesa, como demonstrou de
O documento acima foi proposto à Assembleia Nacional da França, durante a Revolução Francesa, por Marie Gouze. A autora propunha uma Declaração de Direitos da Mulher e da Cidadã para igualar-se à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aprovada anteriormente. A proposta de Marie Gouze expressa
a) o reconhecimento da fragilidade feminina, devendo a Constituição francesa garantir ações legais e afirmativas com o objetivo de reparar séculos de exploração contra a mulher.
b) a participação das mulheres no processo revolucionário e a reivindicação de ampliação dos direitos de cidadania, com o intuito de abolir as diferenças de gênero na França.
c) a disputa política entre os Jacobinos e Girondinos, uma vez que estes últimos defendiam uma radicalização cada vez maior das conquistas sociais no processo revolucionário.
d) o descontentamento feminino ante as desigualdades que as leis francesas até então garantiam entre os integrantes do terceiro Estado e a aristocracia.
06. (unicamp SP) Observe a distribuição de custos dos camponeses franceses, em percentual da colheita, às vésperas da Revolução de 1789. Esses custos referem-se ao arrendamento da terra, ao custo das sementes e aos impostos pagos ao rei, ao senhor da terra e ao clero.
Ao re i 10%
Ao senhor da terra 7%
Ao clero 8%
Sementes 20%
Arrendamento 20%
(Adaptado de L. Bourquin (coord.), Histoire. Paris: Belin, 2003, p. 187.)
a) Relacione os dados apresentados com as condições vividas pelos camponeses na França do final do Século XVIII.
b) Por quais motivos a questão econômica foi um elemento importante para o Terceiro Estado durante a Revolução Francesa?
Questão 06 b) A
a
econômica
o
sans-culottes, profissionais liberais) durante a Revolução Francesa. Os custos dos impostos e a manutenção de um grupo de privilegiados (nobreza e clero) uniram o Terceiro Estado em sua insatisfação contra o regime vigente. A conjuntura de endividamento público e a ineficiência de medidas contra a crise levaram à convocação dos Estados Gerais e fizeram com que as reivindicações do Terceiro Estado entrassem na pauta política francesa. A pobreza foi instrumentalizada pela burguesia, que se incomodava com a ausência de mobilidade social e exigia o fim do sistema de privilégios e o estabelecimento de igualdade jurídica.
A02 y Revolução Francesa 411 03. (unirg TO) Analise
a imagem:
questão solicitava o estabelecimento da relação entre
crise
e
Terceiro Estado (burgueses, camponeses,
W CONGRESSO DE VIENA, REVOLUÇÕES LIBERAIS EUROPEIAS E IDEIAS SOCIAIS DO SÉCULO XIX
Em março de 1815, representantes dos países europeus reuniram-se em Viena para acordar a criação de uma pretensa ordem estável e duradoura no continente. As novas medidas assentavam-se na volta dos valores absolutistas e na varredura de todas as mudanças produzidas na Europa desde 1789.
Porém, ainda que os monarcas utilizassem a violência para restabelecer seus governos absolutistas e, em algumas ocasiões, aceitassem princípios constitucionais, foi impossível lutar contra o liberalismo, proposto tanto pela Revolução Francesa quanto pela Norte-Americana. Entre 1820 e 1848, sucedeu-se, na Europa, uma série de ondas revolucionárias que culminaram na implantação e efetivação do liberalismo e no estabelecimento de governos representativos na maioria dos países ocidentais.
O processo de industrialização que se acelerava na Inglaterra e difundia-se por todo o continente europeu acabou sendo um empecilho para a restauração dessa ordem conservadora. O aumento das classes empresariais e assalariadas dificultava aos monarcas e à nobreza a manutenção do controle sobre os poderes públicos.
O Congresso de Viena
Convocado o Congresso de Viena em 1815, pelo Imperador austríaco Francisco I, a capital da Áustria recebeu representantes de toda a Europa com a intenção de estabelecer as bases de uma paz duradoura e reorganizar o mapa europeu, alterado pelas profundas transformações ocorridas nos últimos 25 anos. As principais decisões do Congresso ficaram a cargo do chanceler austríaco Metternich, do ministro francês Talleyrand, do ministro inglês Castlereagh e do czar da Rússia, Alexandre I. A ideia central consistia no restabelecimento das monarquias absolutistas na Europa.
Alguns princípios foram defendidos pelo Congresso, destacando o da legitimidade monárquica, segundo o qual, a autoridade real não podia ser contestada por nenhuma constituição ou soberania popular, por estar sustentada pela unção divina. Graças a esse princípio, foram restabelecidas as monarquias do Antigo Regime nos países que as possuíam antes da Revolução. O segundo princípio foi o da solidariedade entre as monarquias no sentido de combater um inimigo comum, o liberalismo. Assim, a qualquer intento de uma rebelião deveriam enviar tropas para sufocá-la. Por último, defendeu-se o princípio do equilíbrio político entre as potências, pelo qual todas rechaçariam os intentos de invasão de umas sobre as outras.
Ao longo do Congresso, o anfitrião, Metternich, preocupou-se em fortalecer nos Estados alemães a autoridade dos Habsburgo. A classe governante conservadora inglesa, os tories, também esperavam manter seu poder na Grã-Bretanha, que praticamente não havia sido contaminada pelos ideais napoleônicos. O czar Alexandre I, que acreditava ser o salvador da Europa, aspirava a controlar as reuniões do Congresso, o que preocupava tanto os ingleses quanto os austríacos, em virtude das pretensões expansionistas russas em relação à Europa Ocidental.
O novo mapa da Europa
O direito dinástico e o equilíbrio predominaram sobre um novo espírito nascido após a Revolução: o nacionalismo. Ao rejeitar as aspirações emancipacionistas de diferentes povos, o novo quadro criado por Viena viria a desmoronar.
412 FRENTE HISTÓRIA MÓDULO 03 A PAS 2
TREINAMENTO PAS PROVA ITENS 2007 33 2008 2009 27 2010 2011 2012 26-27 2013 73-75-79 2014 2015 2016 2017 2018 2019 49-50 2020 2021 42
O maior objetivo das nações era o de construir estados fortes com grandes territórios e o maior volume demográfico para impedir os objetivos expansionistas de quem pretendesse dominar novamente a Europa. Porém, as campanhas napoleônicas e a entrega de territórios à nova nobreza imperial francesa haviam alterado profundamente o mapa europeu. Muitas dinastias reinantes haviam sido substituídas por outras (como na Suécia ou Nápoles). Assim, surgiram estados pela junção de entidades menores (Suíça, Reino da Itália e a Confederação do Reno). Diante dessas alterações, decidiu-se remodelar o mapa da Europa.
Entre os grandes impérios, houve a seguinte divisão de territórios:
n Áustria: renunciava a grandes vantagens territoriais, recuperando, no entanto, a região de Veneza, Lombardia e uma pequena parte da Polônia. Contudo, passou a ter controle de parte dos Estados Alemães e Italianos.
n Inglaterra: preocupada com o seu comércio, conservou suas conquistas ultramarinas, Malta, ilhas Jônicas e Gibraltar, adquirindo novas colônias na África e na Ásia, que asseguravam a rota para a Índia. Além disso, consolidou seu domínio sobre as Antilhas, o que facilitou o comércio com a América.

n Prússia: recuperou a margem esquerda do Reno, estendendo até a fronteira com a França.
n Rússia: recebeu a Finlândia e a maior parte da Polônia.
n França: a grande perdedora dentro da reorganização das fronteiras proposta pelo Congresso, que teve suas fronteiras de 1792 restabelecidas.
n São criados Estados-tampão ao redor da França. Ao Norte, os Países Baixos, formados por Holanda, Bélgica e Luxemburgo; a Leste, Suíça; ao Sul, o reino Sardo-Piemontês.
n A península italiana foi repartida entre a Áustria, ao Norte, os Estados Pontifícios, no Centro, e o reino de Nápoles e das Duas Sicílias, ao Sul, governados pelos Bourbons.
Desenhado de acordo com os interesses das potências dominantes, o novo mapa cumpria com as intenções previstas: restabelecer a legitimidade territorial e monárquica anterior à Revolução, isolar a França e assegurar um equilíbrio de forças. Essas fronteiras artificiais não levaram em conta algumas questões que permaneceram pendentes ao ponto de corroer a obra proposta em Viena. Assim, a França nunca aceitara a perda de seus territórios. A Bélgica revoltou-se contra os holandeses e, italianos e alemães, iniciaram seus processos de unificação nacional. Nesse último caso, houve uma incorporação de um documento à ata final do Congresso, reduzindo o número de estados alemães de 350 para 39. Desse modo, nascia a Confederação Germânica, semente da futura unificação alemã. Também houve a incorporação de outras atas que condenavam o comércio de escravos e referendavam a livre navegação por grandes rios e mares.
A Europa dos congressos
Antes que o Congresso se dissolvesse, os participantes propuseram estabelecer alianças para garantir a paz no Continente. Assim, criou-se a Quádrupla Aliança entre Inglaterra, Prússia, Áustria e Rússia com a intenção de celebrar congressos para resolver assuntos internacionais. Essa nova política internacional desenhou-se em torno de três linhas estratégicas. A primeira linha, praticada pela Inglaterra, que diante do equilíbrio continental, esqueceu-se da Europa e se entregou ao engrandecimento do seu império colonial. A segunda linha, praticada pelas monarquias centro-orientais que, preocupadas com futuros perigos para o sistema absolutista, propuseram a criação de ligas de caráter político-religioso, das quais se destaca a criação da Santa Aliança, que tinha como objetivo colocar em prática os princípios do Congresso de Viena, reprimindo movimentos liberais em todo o mundo e buscando colocar em prática um processo de recolonização da América. Por último, a linha proposta pela França, que inspirada nos desejos de seu ministro Talleyrand, desejava recuperar para si o posto de grande potência e controlar os novos Congressos que buscassem eliminar possíveis intentos revolucionários. No entanto, pouco mais tarde, em janeiro de 1820, explodiram inúmeras revoltas contra o absolutismo na Europa. Contudo, as revoltas e o liberalismo foram duramente reprimidos; primeiro na Espanha, mais tarde em Portugal, Itália e Alemanha. Porém, por mais que os governos absolutistas tentassem restaurar uma ordem calcada no Antigo Regime, as revoluções liberais eram praticamente incontroláveis.
As revoluções liberais europeias
Diversos pensadores iluministas, como Montesquieu, Diderot, Voltaire, Locke, entre outros, haviam advogado pela organização da vida dos povos sustentada na liberdade e igualdade dos indivíduos. Isto é, em favor dos princípios liberais, que opunham a razão à religião.
A03 y Congresso de Viena, revoluções liberais europeias e ideias sociais do século XIX 413
F IG u RA 01 - Charge que representa a divisão do território europeu entre as principais potências.
Além do aspecto ideológico, o liberalismo desenvolveu-se, ao longo do século XIX, como uma prática política. Segundo esse princípio, o estado liberal não é o diretor ou propulsor das relações entre os indivíduos e sim um garantidor dos direitos naturais individuais. Seus postulados básicos resumem-se em:
n Substituição do direito divino pela soberania nacional;
n Substituição do conceito de súdito pelo de cidadão, ou seja, sujeito com direitos inalienáveis reconhecidos em constituições e códigos de direito;
n Proclamação de princípios universais de liberdade individual, igualdade perante a lei e direito à propriedade;
n Separação de poderes: legislativo, executivo e judiciário, dependentes da vontade geral manifestada por meio do voto;
n Realização de eleições e plebiscitos para consolidar a ordem política;
n Criação de partidos políticos como necessidade para defender propostas ou ideais similares ou diferentes;
n No âmbito econômico, consolida-se o capitalismo e a sociedade de mercado;
n No âmbito social, surgirá a sociedade de classes.
O conceito de liberal nasceria na Espanha, ao denominar dessa maneira uma facção de deputados das Cortes de Cádiz. Daí passaria para a França ao designar aqueles que eram contrários à restauração bourbônica e, depois, aos deputados whigs ingleses, fundadores do Partido Liberal.
Os princípios acima expressados foram tomando forma ao longo dos anos. A respeito dos poderes, o legislativo era exercido pelo parlamento em conjunto com o monarca, que dispunha de uma série de prerrogativas, tais como o veto, a apresentação de leis, possibilidade de dissolver o parlamento etc. Quanto ao sufrágio universal masculino, não era admitido na maioria dos países europeus, por considerar alguns grupos incapacitados para exercê-lo. Em geral, estabeleceu-se um sufrágio restrito em que só tinham direito ao voto os homens maiores de idade, com um elevado nível econômico e profissional, razão pela qual se denominou sufrágio censitário.
As manifestações revolucionárias
A semente nacionalista e liberal que se expandiu por toda a Europa pelas tropas napoleônicas, sua nova estrutura administrativa e independência frente aos poderes tradicionais inutilizaram a Europa dos Congressos. A burguesia não estava disposta a renunciar ao poder tomado da aristocracia e organizou os movimentos revolucionários. Por sua parte, o exército mobilizou-se em apoio ao interesse político burguês. A eles uniram-se os artesãos, camponeses, estudantes ou profissionais que centraram seus principais protestos contra a situação social europeia.
As revoluções burguesas desenvolveram-se durante três ciclos consecutivos, 1820-1823, 1830-1833 e 1848. Os fatores que desencadearam tais revoluções tiveram a
ver com a situação de cada país, porém podem-se notar três causas comuns: a oposição ao absolutismo, os sentimentos nacionalistas e o protesto contra a desigualdade econômica e social.
As revoluções de 1830
As revoluções que ocorreram em 1830 tiveram na classe média sua principal gestora e a França como sua preceptora, seguida pela Bélgica, parte da Alemanha, Itália, Suíça e Polônia.
Em 1825, Carlos X havia sucedido a Luís XVIII com o único apoio da Igreja e dos ultraconservadores franceses. Buscando aliados, no início de 1830, Carlos dissolve a Câmara e convoca novas eleições, das quais surge uma Assembleia de caráter liberal que exigia a demissão dos ministros. Em julho, o Rei promulga ordens, suspendendo a liberdade de imprensa, dissolvendo a Câmara, reduzindo o número de deputados e convocando novas eleições para setembro.
Além da crise política, a França foi sacudida por problemas econômicos, que aumentaram os descontentamentos e proporcionaram aos revolucionários o apoio do povo: comerciantes, industriais, trabalhadores, jornalistas e políticos liberais. Nos três dias gloriosos (27 a 29 de julho de 1830), as ruas de Paris converteram-se em um verdadeiro campo de batalha. Carlos X abdicou do trono e buscou-se um monarca moderado, de caráter mais liberal. Assim, Luís Felipe de Orleans foi proclamado rei da França e acabou sendo obrigado a aceitar o princípio fundamental do liberalismo: a soberania nacional. Ampliou o número de eleitores para 200 000 e abandonou a “flor de lis”, emblema da monarquia Bourbon, para utilizar a bandeira tricolor, sinônimo do republicanismo revolucionário. A nova monarquia converteu-se em um símbolo do progresso político.
Essas revoluções ganharam a Europa, sendo responsáveis por movimentos na Bélgica, na Confederação Germânica, na Polônia e na Itália. No caso britânico, as revoluções de 1830 não serviram para derrubar um governo absolutista, pois desde a revolução de 1688, a nação desfrutava de um regime parlamentar, com uma monarquia limitada. Contudo, não havia uma constituição escrita e quem dominava o parlamento eram os nobres e não a burguesia. Por isso, em 1830, intensificaram-se as pressões dessa classe social para a ampliação de sua representatividade política. Como resposta, elaborou-se uma lei eleitoral que se adaptava à nova realidade geográfica, pautada no crescimento urbano. A partir de 1832, ampliou-se o quadro de votantes. Mesmo que ainda fosse uma minoria quem ditasse a política, agora tratava-se de uma minoria burguesa e liberal.
As revoluções de 1848
Conhecida como a “Primavera dos Povos”, uma nova onda revolucionária ocorreu na Europa durante o primeiro semestre de 1848. Caracterizadas pela sua brevidade e rápida expansão, as revoltas marcaram um novo avanço do liberalismo e
História 414 | PAS 2
das correntes nacionalistas, que foram acompanhadas por exigências de caráter democrático, como o sufrágio universal e reformas sociais para proteger os interesses das classes trabalhadoras. Uma vez mais, as revoluções começam em Paris e daí difundem-se para a Itália, Áustria e Alemanha.
SAIBA MAIS
O que foi o movimento sufragista?
“Foram diversas campanhas realizadas a partir de meados do século XIX para garantir às mulheres da Inglaterra e dos Estados Unidos algo então inédito para elas: o sufrágio, direito de votar em eleições políticas. [...] “O movimento sufragista tem suas origens na urbanização e na industrialização do século XIX”, diz a historiadora Lidia Possas, da Universidade Estadual Paulista (Unesp). [...] Quando mudaram do campo para as cidades, para trabalhar nas fábricas, as mulheres passaram a se conscientizar mais de seus direitos. A escritora inglesa Mary Wollstonecraft (1759-1797) foi a grande pioneira da defesa do voto feminino, em livros e manifestos publicados a partir de 1792. Apesar de o movimento ter sido mais forte na Inglaterra e nos Estados Unidos, o primeiro país a permitir o voto feminino foi a Nova Zelândia, em 1883”.
Fonte: http://mundoestranho.abril.com.br/materia/o-que-foi-o-movimento-sufragista
A queda de Luís Felipe e a Segunda República Francesa
A política do rei burguês Luís Felipe, muito disposto a satisfazer os interesses da burguesia, acabou por defraudar tanto aos grupos católicos por causa das medidas tomadas contra a liberdade de ensino, como aos partidos de esquerda desejosos de maiores liberdades. Além disso, uma nova crise econômica provocou o fechamento de diversas fábricas e, concomitantemente, o aumento do desemprego e da fome, que geraram diversos protestos de trabalhadores, a quem se uniu a baixa burguesia e os estudantes. Quando o governo buscou utilizar a polícia e as forças armadas, estas se negaram, obrigando o rei Luís Felipe a abdicar em 24 de fevereiro de 1848. Um governo provisório proclamou a Segunda República Francesa que, a princípio, buscou dar uma imagem moderada e desejosa de paz ao resto das nações.
Imediatamente surgiram os primeiros desacordos entre a alta burguesia e os pequenos proprietários diante de um crescente temor das exigências dos movimentos socialistas. Para agravar a situação, ocorreu uma crise financeira manifestada pela queda da Bolsa e uma massiva retirada de depósitos bancários.
Nesse ambiente, celebraram-se as primeiras eleições por sufrágio universal masculino, com uma clara manipulação por parte das classes dominantes tradicionais, que acabou
provocando uma mudança nas posições conservadoras e um aumento da tensão política. Com isso, em dezembro de 1848, o sobrinho de Napoleão, Luís Napoleão Bonaparte, com um golpe de estado, proclamou-se presidente e, em 1852, imperador francês, derrubando a nascente República.
Os movimentos revolucionários no resto da Europa
As notícias da queda de Luís Felipe chegaram à Áustria, onde há mais de um ano não havia tensões sociais que exigissem reformas políticas. Os liberais da região de Baden foram os primeiros a reagir e servir de exemplo ao resto dos estados alemães. Buscavam liberdade de imprensa, formação de uma milícia cívica e a convocação de um parlamento alemão, no que se incluía um elemento nacionalista nas reivindicações. O movimento propagou-se sem a necessidade de recorrer à violência porque os príncipes, atemorizados, fizeram inúmeras concessões. Em março de 1848, uma manifestação de estudantes e trabalhadores exigiu a adoção de medidas liberais e a demissão do ministro Metternich, que acabou se exilando em Londres. O imperador prometeu a formação de um governo liberal, a organização da Guarda Nacional e a liberdade de imprensa. No dia seguinte, explodiu a Revolução na Hungria. A queda de Metternich e toda sua representação simbólica serviu para chamar a atenção do resto das chancelarias europeias. Esses movimentos exaltaram os ânimos na Itália, onde os emancipacionistas nacionalistas buscaram expulsar os austríacos. Sob o grito de “Viva Itália livre” eclodiu uma revolução encabeçada pelo rei da Sardenha, Carlos Alberto, mas que acabou sendo contida pelos austríacos. Ao fracassar do movimento, o rei Carlos Alberto abdicou em favor de seu filho Victor Emanuel II, que mais tarde tornaria possível o processo de unificação italiana.
Entretanto, na Alemanha, uma crise econômica bastante profunda, que levou uma parcela da população à fome, levou à eclosão de revoltas e à exigência de mudanças políticas e sociais, destacando a necessidade de libertação dos camponeses das obrigações feudais que lhes eram impostas. Contudo, em virtude das diferenças dos distintos grupos políticos, a revolução naufragou e não alcançou a unificação nem um modelo político constitucional.
Balanço das revoluções
Ainda que não tenham conseguido atingir as reivindicações principais da grande agitação que assolou a Europa por praticamente três décadas, subsistiram algumas conquistas que, com o tempo, se estenderam por todo o Continente. Na França manteve-se o sufrágio universal e nos outros estados europeus, houve uma grande debilidade das monarquias absolutistas do Antigo Regime, uma vez que se fortalecia a tendência do estabelecimento dos sistemas democráticos e parlamentares. Salvo na Rússia, onde persistiu a servidão até 1861, aboliram-se os regimes senhoriais. Por último, a semente nacionalista e emancipacionista daria seus frutos nas futuras unificações da Itália e da Alemanha.
A03 y Congresso de Viena, revoluções liberais europeias e ideias sociais do século XIX 415
Era Napoleônica
Napoleão Bonaparte era o militar com maior prestígio dentro do exército durante a Primeira República Francesa. Aos 24 anos de idade, assumiu o posto de general de brigada, tornando-se o general mais jovem da história militar da França.
Consulado (1799-1804)
Em 1799, após o golpe 18 Brumário, instaurou-se na França um novo regime, o Consulado, buscando eliminar a instabilidade política que assolava o país. O poder executivo seria exercido por três cônsules, o general Bonaparte e dois membros do Diretório, Sieyés e Ducos. Com o novo regime, propôs-se uma nova constituição para regularizar a situação francesa.
A Constituição aprovada em janeiro de 1800, mediante um referendo, reforçou o poder de Bonaparte, pois o colocou à frente do governo por um período de dez anos (renovável). Napoleão seria o primeiro Cônsul francês e teria amplos poderes que ultrapassavam os limites da esfera executiva, podendo propor leis, dirigir a política externa, nomear ministros e membros do Conselho do Estado, assim como juízes e altos funcionários. Os outros cônsules teriam apenas funções consultivas. A Carta Magna não só fortalecia o poder de Napoleão como feria também os preceitos da soberania nacional. Durante os primeiros anos do governo napoleônico, foram obtidos grandes avanços administrativos, políticos e constitucionais. A grande inteligência e visão política do jovem general levaram-no a realizar uma formidável reforma administrativa no Estado francês, atingindo diferentes setores da sociedade francesa.
Império (1804-1815)
Era tão grande a fama e o poder do Primeiro Cônsul que, em 1804, Napoleão impôs outra Constituição para solucionar os persistentes problemas internos e externos da França. O governo não mais seria controlado por um triunvirato e sim por um imperador, Napoleão I. Esse novo regime anulava a República e estabelecia uma monarquia hereditária. Contudo, a constituição manteria as conquistas da Revolução Francesa: igualdade de direitos, liberdade política e civil e ratificação da integridade territorial. Em 02 de dezembro de 1804, Napoleão coroou a si mesmo “Imperador dos franceses” na presença do papa Pio VII para dar maior solenidade ao ato. Nesse momento, finalizou-se o período da Primeira República Francesa e deu-se início ao Primeiro Império Francês.
Com o objetivo de receber o apoio de seus partidários, Napoleão substituiu a antiga nobreza hereditária por uma nova, que conseguia seus títulos por méritos de guerra e serviços prestados ao Estado. Assim, nomeou príncipes, duques, marqueses, generais e oficiais. Converteu seus irmãos e seus cunhados em reis: José, rei de Nápoles e mais tarde da Espanha; Luís, rei da Holanda; seu cunhado Murat passou a controlar o ducado de Berg e, mais tarde, foi nomeado rei de Nápoles. Ele também instituiu a “Legião de Honra” para condecorar os mais destacados elementos dentro da sociedade francesa.
O imperador dominava toda a política mantendo, no entanto, as Câmaras como base de controle de governo. Vale destacar que os deputados e senadores que compunham tais câmaras eram submetidos aos desejos de Napoleão. O poder Executivo e o Judiciário eram exclusivos de Napoleão, que nomeava os juízes franceses e assegurava o seu poder pleno e o controle sobre toda a sociedade por meio de sua polícia. Socialmente, as mudanças também ganhavam vulto, tendo o maior destaque a perda de privilégios por parte da antiga nobreza. No entanto, a nova nobreza voltou a estabelecer uma hierarquia social, acumulando propriedades agrícolas e bens imóveis, o que acabava por distingui-la das demais camadas sociais.
Napoleão formou um exército forte e novo que se pautava em técnicas militares simples e no serviço militar obrigatório. Esse sistema militar, unido ao carisma e
História 416 | PAS 2
grande inteligência do Imperador, conseguiu transformar o Exército Napoleônico em um grande temor para todas as potências inimigas da França. Por outra parte, ainda que o estímulo bélico favorecesse o poder aquisitivo dos salários e diminuísse o desemprego as campanhas napoleônicas significavam uma ação sangrenta, sobretudo entre as camadas populares. No âmbito econômico, a situação francesa viu-se melhorada com as conquistas de novos territórios como a Áustria, Suíça, Itália, Portugal e Espanha.
No caráter militar, em virtude de não conseguir conquistar a Inglaterra pelo mar, Napoleão decretou o Bloqueio Continental, cujo objetivo era estrangulá-la economicamente. A Inglaterra era extremamente forte e mantinha influência por todos os continentes, impedindo que a França recebesse mercadorias de colônias e seus Estados aliados. Em outubro de 1805, diante o cabo de Trafalgar, a esquadra inglesa dirigida pelo almirante Nelson, aniquilou a frota franco-espanhola.
A Inglaterra - a rainha dos mares, se propôs a organizar uma Terceira Coligação com austríacos, russos, prussianos e suecos para vencer, definitivamente, o Império Francês.
Não obstante, a política exterior francesa girava em torno da vontade de Napoleão, que significava a expansão da França sem limites para impor sua hegemonia em todo o continente europeu. A vitória francesa contra o exército austro-russo na batalha de Austerlitz, em dezembro de 1805 e em 1807, contra a Prússia e os exércitos coligados, fez com que fosse firmada, em junho de 1807, a Paz de Tilsit, com o czar russo Alexandre I, desfazendo a Terceira Coligação. Rússia e França repartiram suas influências na Europa, sendo que a parte oriental ficaria a cargo do czar e a ocidental para Napoleão, que já dominava a Itália, grande parte da Alemanha e a Polônia.
Nesse ínterim, continuava a pretensão Napoleônica de conquistar a Inglaterra, obrigando Portugal e Espanha a aderirem ao bloqueio continental. A monarquia portuguesa rechaçou o ultimato francês, enquanto o rei espanhol firmou com a França o Tratado de Fontainebleau, em outubro de 1807, pelo qual as tropas francesas obteriam o direito de passar pelo território espanhol para atingir Portugal. As ações francesas em Portugal fizeram com que houvesse a transmigração da Corte lusa para o Brasil, fato que seria de grande valia para a independência da colônia.
No caso espanhol, Napoleão derrubou o rei Fernando VII e colocou no trono seu irmão José Bonaparte, desarticulando o poder interno hispânico. Esse evento deu início aos movimentos nacionalistas na Espanha, que enfrentariam os exércitos napoleônicos em uma grande guerra de independência, que, com a ajuda da população espanhola e com o respaldo inglês, venceriam os franceses depois de seis anos de batalhas.
Durante vários anos, o Império Francês aumentava, chegando Napoleão a exercer influência sobre os Países Baixos, Itália, Espanha e Portugal, por meio de parentes ou seus oficiais. Contudo, em 1811, Napoleão passaria a en -
frentar uma grande crise econômica gerada pelo Bloqueio Continental imposto à Inglaterra, uma vez que o comércio francês sofreu quase quanto o comércio britânico, em virtude de grande dependência de toda Europa, inclusive a França, da industrialização britânica. Essa crise econômica, somada às péssimas colheitas, começaram a afetar drasticamente a população francesa, que já estava cansada de sacrificar seus jovens para satisfazer o orgulho e o imperialismo de Napoleão.
Em 1812, a Rússia rompeu sua aliança com a França, pois temia o grande poder militar e econômico que o Império francês estava implantando na Europa e que ameaçava asfixiar o Império dos czares. Desse momento em diante, Napoleão decidiu invadir a Rússia, desconsiderando problemas que poderia ter com o rigoroso inverno russo. Tanto o exército como os camponeses russos seguiram as táticas de guerrilhas, destacando a “terra arrasada”, em que não se enfrentava frontalmente o exército francês mas sim ia minando sua retaguarda com a devastação de todas as estruturas internas russas (cidades, plantações etc.), quando Napoleão chegou a Moscou em setembro de 1812, após a conquista francesa de Borodino, nas cercanias da capital russa. Contudo, ao chegar à cidade, viu as ruas destruídas e suas tropas tiveram que conviver com o frio e a fome. O imperador, então, ordenou a retirada do exército. Mas, dos 600 000 homens que partiram para conquistar a Rússia, apenas 100 000 regressaram.
O fracasso da estratégia napoleônica na Rússia foi o início do fim do Império Francês, porque não só dizimou grande parte do efetivo militar, como também deu novo ânimo para países que se opunham ao processo expansionista de Napoleão. Em outubro de 1813, Áustria, Prússia, Rússia e Inglaterra voltaram a se unir para combater os exércitos franceses e assim o fizeram na Batalha de Leipzig. A França acabou sendo invadida pelas tropas aliadas e Paris foi ocupada em 31 de março de 1814. Napoleão não teve outra solução que não a rendição, sendo, mais tarde, exilado na ilha de Elba.
As potências europeias restauraram a monarquia na França e nomearam Luís XVIII, irmão de Luís XVI, o novo rei dos franceses. Não obstante, a fragilidade de seu governo e seus constantes erros provocaram o descontentamento do povo francês, que ansiava pelo retorno de Napoleão. O general escapou do exílio na ilha de Elba, desembarcando na França em 1° de março de 1815 e se proclamando pela segunda vez “Imperador dos franceses”.
O Novo Império ficou também conhecido como o Governo dos Cem Dias, já que as potências europeias conduzidas pelo general inglês Wellington derrotaram definitivamente a Napoleão na região belga de Waterloo. O Imperador viu-se obrigado a abdicar, sendo o trono novamente ocupado pelo rei Luís XVIII. Os ingleses deportaram Napoleão Bonaparte à ilha atlântica de Santa Helena, onde morreu em cinco de maio de 1821, com 52 anos de idade.
A03 y Congresso de Viena, revoluções liberais europeias e ideias sociais do século XIX 417
EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO
01. (uEG GO) Leia o texto a seguir.
Como seria de prever, pouco tempo depois um general arrojado (convidado a intervir por alguns membros do Diretório de 1799) dispôs-se a explorar a indispensabilidade e o prestígio do exército para tomar o poder num golpe de Estado. Napoleão Bonaparte utilizou a sua base no exército para se firmar (pouco a pouco) [...]. Muito mais importante, porém, foram as mudanças institucionais verificadas sob a égide de Napoleão.
SKOPCOL, T. Estado e Revoluções Sociais: análise comparativa da França, Rússia e China Lisboa: Presença, 1985. p. 209.
A Constituição francesa de 1799, submetida a um plebiscito e aprovada por mais de três milhões de franceses, concedeu a Napoleão Bonaparte o título de
a) primeiro ministro.
b) imperador.
c) ditador.
d) cônsul.
e) rei.
02. (unirg TO) No início do século XIX, a intervenção napoleônica provocou mudanças no governo da Espanha ao destronar os reis Carlos IV e Fernando VII e colocar, em seu lugar, o irmão do imperador francês, José Bonaparte. Esse fato teve reflexos na América, pois as mudanças na metrópole estimularam nas colônias o
a) movimento autonomista dos criollos.
b) rompimento dos colonos com os ingleses.
c) fortalecimento das autoridades metropolitanas.
d) desenvolvimento científico e cultural nas províncias.
03. (uCB DF) Karl Marx partiu da relação entre proprietários e não proprietários dos meios de produção para caracterizar a formação das classes sociais e da sociedade capitalista. Para ele, essa divisão social é a primeira forma de divisão do trabalho: a divisão entre aqueles que produzem e aqueles que se apropriam da produção.
MACHADO, I. J.; AMORIM, H.; BARROS, C. R. Sociologia hoje: ensino médio. 2. ed. São Paulo: Ática, 2016.
No que se refere à formação e à relação das classes sociais, considerando-se a concepção de Karl Marx, assinale a alternativa correta.
a) A dinâmica social está centrada na propriedade coletiva.
b) Aqueles que possuem a posse dos meios de produção compram a força de trabalho dos que não possuem condições materiais de produzir a própria subsistência.
c) A sociedade capitalista organiza-se com base no interesse da classe proletariada.
d) As classes sociais expressam-se unicamente pela divisão econômica entre os indivíduos.
e) A sociedade é dividida em inúmeras classes ou em estratos sociais, de acordo com o poder econômico de cada indivíduo.
04. (Enem MEC) Em Utopia, tudo é comum a todos. A distribuição dos bens lá não é um problema, não se vê nem pobre nem mendigo e, embora ninguém tenha nada de seu, todos são ricos. Haverá maior riqueza do que levar uma existência alegre e pacífica, livre de ansiedades e sem precisar se preocupar com a subsistência?
MORUS, T. Utopia. Brasília: UnB, 2004.
Retirado da obra de Thomas Morus, escrita no século XVI, esse trecho influenciou movimentos sociais do século XIX que lutaram para
a) inibir a ascensão da burguesia.
b) evitar a destruição da natureza.
c) combater o domínio do capital.
d) eliminar a intolerância religiosa.
e) superar o atraso tecnológico.
05. ( unesp SP) A condição essencial da existência e da supremacia da classe burguesa é a acumulação da riqueza nas mãos dos particulares, a formação e o crescimento do capital; a condição de existência do capital é o trabalho assalariado. [...] O desenvolvimento da grande indústria socava o terreno em que a burguesia assentou o seu regime de produção e de apropriação dos produtos. A burguesia produz, sobretudo, seus próprios coveiros. Sua queda e a vitória do proletariado são igualmente inevitáveis.
Entre as características do pensamento marxista, é correto citar
a) o temor perante a ascensão da burguesia e o apoio à internacionalização do modelo soviético.
b) o princípio de que a história é movida pela luta de classes e a defesa da revolução proletária.
c) a caracterização da sociedade capitalista como jurídica e socialmente igualitária.
d) o reconhecimento da importância do trabalho da burguesia na construção de uma ordem socialmente justa.
e) a celebração do triunfo da revolução proletária europeia e o desconsolo perante o avanço imperialista.
06. (uFJF MG) Leia o trecho a seguir “Tinha 7 anos quando comecei a trabalhar na fábrica: o trabalho era a fiação da lã; as horas de trabalho decorriam entre as 5 da manhã e as 8 da noite, com um intervalo de 30 minutos ao meio-dia para repousar e comer (...). Nesta fábrica havia cerca de 50 crianças mais ou menos da minha idade (...). Havia sempre uma meia dúzia de crianças doentes devido ao excesso de trabalho (...) Era à força do chicote que as crianças se mantinham no trabalho. Esta era a principal ocupação de um contramestre – fustigar as crianças para as fazer trabalhar excessivamente. Nas minas da divisão Oeste de Yorkshire parece que se empregam quase só mulheres para manobrar as portas de ventilação (...). Estas raparigas têm todas idades desde os 7 aos 21 anos”.
Conde de Shaftesbury, Discurso in Mémoires de l’Europe - Disponível: http://cheirinhoahistoria.blogspot.com.br/2010/10/trabalho-femininoe- infantil-no-seculo.htmlAcesso em 22/09/2015
O século XIX foi de avanços e recuos na organização do mundo capitalista. Questões como aumento da concentração urbana, reivindicações operárias e a ameaça de conflitos internos foram constantes. Surgiram doutrinas e movimentos sociais que contestavam a ordem liberal burguesa, tais como: Socialismo Utópico, Socialismo Científico, Socialismo Cristão, Anarquismo e Sindicalismo. Escolha e explique DUAS destas propostas:
O candidato deverá ser capaz de identificar e explicar dois dos movimentos sociais listados na questão, explicitando os seus proponentes, as suas características principais e as suas principais propostas, críticas e ações.
História 418 | PAS 2
(Karl Marx e Friedrich Engels. “Manifesto Comunista”. Obras escolhidas, vol. 1, s/d.)
W IMPERIALISMO E PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL
A partir da segunda metade do século XIX, os países europeus voltaram a recorrer ao imperialismo colonial, processo que também ficou conhecido como neocolonialismo, visando, principalmente, à Ásia e à África. Em 1905, 90,4% do território africano e 56,6% do asiático encontravam-se sob o domínio estrangeiro. A dominação não se faria, entretanto, sem a reação dos povos colonizados. Várias revoltas marcaram o processo de expansão colonialista, fazendo prever que esta não se perpetuaria. A principal consequência do expansionismo imperialista seria a Primeira Guerra Mundial, que poderia ser descrita por meio da frase: “o imperialismo é filho da industrialização e pai dos conflitos mundiais”.

Antecedentes
Nas décadas de 1860 e 1870, a economia capitalista ganha um novo impulso e um ritmo crescentemente acelerado, o que possibilita a progressiva superação do chamado capitalismo competitivo ou livre concorrência pelo capitalismo monopolista. A conjuntura envolvida é a da Segunda Revolução Industrial, que promoveu inúmeras transformações no sistema capitalista que podem ser destacadas por meio de um acentuado progresso técnico-científico; do desenvolvimento dos meios de transporte; da expansão dos meios de comunicação; da concentração do capital e da produção; do aparecimento de uma oligarquia financeira nos países de capitalismo desenvolvido e da divisão do mundo em áreas de economias centrais e áreas de economias periféricas.
Fatores
Vários fatores podem ser elencados como responsáveis pelo processo de imperialismo desenvolvido pelas grandes potências mundiais, a saber: os efeitos da Segunda Revolução Industrial na Europa e EUA; a tendência monopolista e financeira do capitalismo; as crises cíclicas de superprodução (Grande Depressão) gerando necessidades de maiores mercados; a formação de trustes, cartéis e holdings; e a conquista de áreas estratégicas econômica e militarmente.
Monopólios e oligopólios
A palavra monopólio tem sido utilizada para designar toda situação em que deixa de existir competição no mercado. Porém, pode-se falar em monopólio apenas quando uma única
419 FRENTE HISTÓRIA
04 A PAS 2
MÓDULO
Acesso em: 23 nov. 2016
Fonte: <https://userscontent2.emaze.com>.
FIGuRA 01 - Sátira a respeito do imperialismo sobre a China.
TREINAMENTO PAS PROVA ITENS 2007 2008 2009 2010 51 2011 23-60 2012 2013 2014 58 2015 2016 2017 2018 2019 52 2020 74 2021
empresa, ou grupo econômico, domina sozinha o mercado de determinados produtos. Já o oligopólio é uma situação de mercado na qual um pequeno grupo de empresas controla a produção ou a venda de produtos, fixando seu preço por meio de acordos entre si, e não por intermédio da concorrência. Algumas formas de monopólios e oligopólios são:
n Truste – um grupo econômico que reúne várias unidades produtivas. Nos trustes horizontais, reúnem-se vários tipos de empresa que fabricam o mesmo produto. Nos trustes verticais, uma empresa domina unidades produtivas responsáveis por várias etapas da produção. Por exemplo, minas de ferro e carvão, empresas siderúrgicas e fábricas de locomotivas.
n Cartel – processo no qual grandes empresas estabelecem acordos de mercado e ditam os preços dos produtos que fabricam. É uma forma de oligopólio.
n Holding – uma empresa central, geralmente um banco, detém o controle das ações de várias outras empresas.
Razões e necessidades de expansão
A partir da análise do processo de expansão, podem ser determinadas as razões que motivaram o neocolonialismo, tais como: a busca de mercados consumidores – para absorver a produção excedente; a busca de matérias-primas e mão de obra barata para atender sua demanda industrial; a procura por locais para se colocar o excedente populacional – e o advento do espírito nacionalista – a rivalidade entre as nações estimulou o espírito nacionalista.
Justificativa da expansão
As nações imperialistas do século XIX procuraram justificar esse processo através de doutrinas racistas, religiosas e técnico-científicas, nas quais propugnavam a superioridade europeia:
n Doutrina racista : o Imperialismo disseminou a ideologia da superioridade racial do branco, o europeu, em relação ao africano (Darwinismo Social).
n Doutrina religiosa: a Igreja Católica colaborou bastante com a dominação europeia na África e na Ásia, pois afirmava que ela possuía a missão de trazer as almas dos infiéis para o cristianismo.
n Doutrina técnico-científica: os europeus, deslumbrados com os avanços nas ciências, consideravam-se superiores em relação aos demais povos, pois experimentavam um notável progresso científico.
Proposta de partilha
Para evitar os choques inerentes à corrida imperialista pela partilha da África, Bismarck propôs, em 1884, a reunião dos principais líderes políticos em Berlim, a fim de dividirem o continente sem problemas. Reuniram-se na Conferência de Berlim, em 1885, cujas decisões foram as seguintes: manutenção das boas relações entre as potências europeias; a definição de normas a serem seguidas pelas potências colonialistas; e a liberdade de comércio da Bacia do Congo, região rica em minérios.
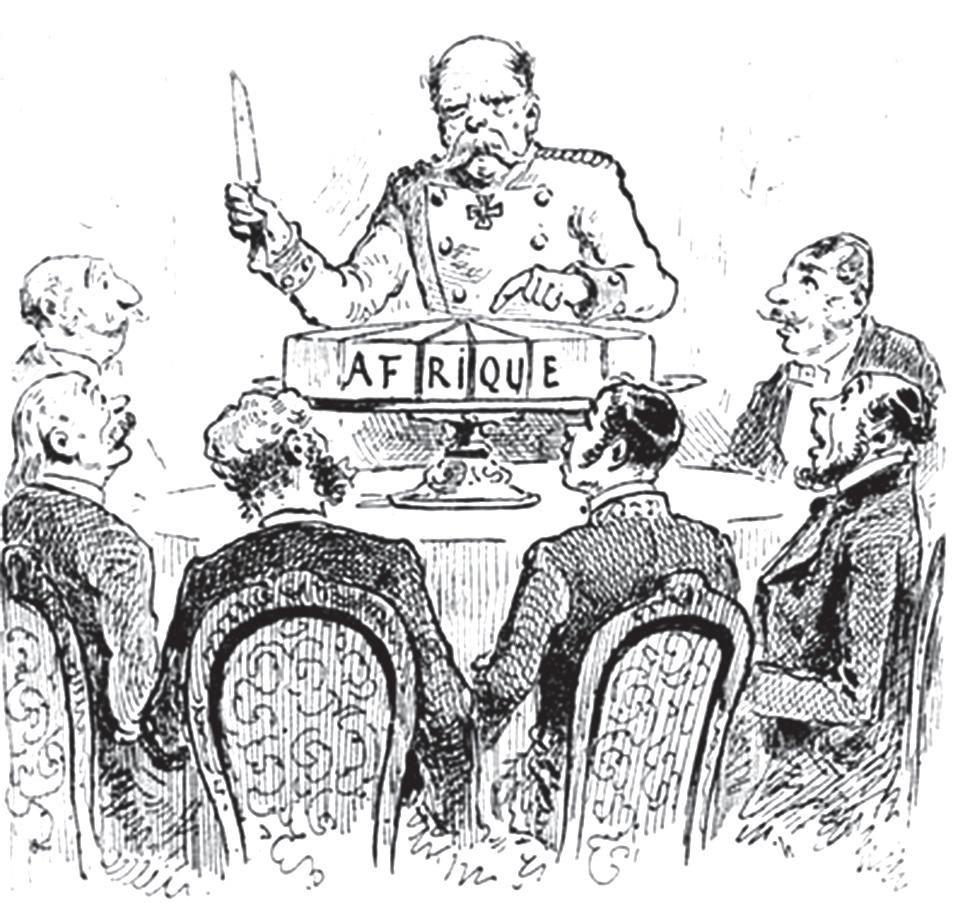
Comparação entre o antigo colonialismo e o neocolonialismo
Antigo colonialismo
Período: Séculos XVI, XVII e XVIII.
Área atingida: América.
Potências colonizadoras: Espanha e Portugal (secundariamente Inglaterra, França e Holanda).
Política econômica : Mercantilismo (capitalismo comercial).
Objetivos: obtenção de especiarias para o comércio; metais preciosos; matérias-primas para manufaturas; escravos.
Principal agente: o Estado Moderno.
Neocolonialismo
Período: Século XIX – 1945.
Áreas atingidas: Ásia e África.
Potências colonizadoras: Inglaterra, França, Bélgica, Holanda, Alemanha, Itália, EUA e Japão.
Política econômica: Liberalismo Econômico (capital industrial e bancário).
Objetivos: exportação de excedentes de capital; domínio sobre mercados produtores de matérias-primas e mercados consumidores de produtos industrializados; busca de pontos estratégicos; alocação de excedentes populacionais.
Principal agente: a burguesia.
Principais Conflitos
n Guerra dos Bôeres (1899-1902) : empreendida pelos ingleses contra os bôeres, colonos holandeses de Transvaal e Orange. Teve como motivo a descoberta de ouro e diamante na região. Vencida pela Inglaterra que, em 1910, acabou por formar a União Sul Africana.
História 420 | PAS 2
Fonte: <http://3.bp.blogspot.com/>. Acesso em: 23 nov. 2016
FIGuRA 02 - Desenho satirizando o imperialismo sobre a África.
n Guerra dos Cipaios (1857-1859): empreendida pelos ingleses na Índia. Tem como razão a política de anexações, às vezes violentas, e a total dependência econômica das regiões ocupadas. A supressão da revolta serviu como pretexto para a organização do protetorado inglês.
n Guerra do Ópio (1840-1842): provocada pela destruição de um carregamento inglês de ópio para China, fato que justificou a intervenção da esquadra britânica. A Inglaterra conseguiu importantes concessões em vários portos e a posse da ilha de Hong Kong. Após essa vitória inglesa, as demais nações europeias também procuraram concessões pelos mesmos métodos.
n Guerra dos Boxers (1900-1901): ocorrida na China, em que se manifestou o nacionalismo xenófobo, atacando diversos pontos de penetração dos europeus, provocando a intervenção de uma força militar conjunta para suprimir o movimento.
Principais empreendimentos imperialistas
n Revolução Meiji (1867-1912): reflete a assimilação do colonialismo pelo Japão. Com a Revolução Meiji e o apoio estrangeiro, o imperador tomou o poder do xogum (supremo comandante militar que governava o Japão desde 1192) e passou a incorporar a tecnologia ocidental para modernizar o país. Esse processo permitiu o acúmulo de riquezas nas mãos de grandes comerciantes e proprietários. Outro aspecto importante dentro desse período foi a acumulação de capital nacional, decorrente da forte atuação do Estado. Deve-se destacar ainda a formação dos Zaibatsus, grandes concentrações industriais de caráter familiar (Sumitomo, Mitsubishi, Yasuda e Mitsui), que passaram a controlar grande parte da economia japonesa. n Era Vitoriana (1837-1901): período de grande esplendor da economia inglesa, marcado pelo longo reinado da rainha Vitória. Essa ação caracterizou-se pela atuação esplendorosa do liberalismo na Inglaterra que promoveu um grande desenvolvimento político e econômico da nação. Vale, no entanto, ressaltar que, mesmo tendo sido um período de grande prosperidade, não resolveu as mazelas sociais como o desemprego, a fome, a miséria, o banditismo social. Acabou, dessa forma, estimulando o desenvolvimento do Imperialismo.
Consequências do imperialismo
Pela primeira vez na história, o mundo encontrava-se inteiramente partilhado, direta ou indiretamente, submisso às grandes potências europeias e aos Estados Unidos. As grandes potências entrariam agora em choque permanente entre si na tentativa de expandir suas áreas de dominação econômica e política. Esse choque de imperialismos terminaria por deflagrar a Primeira Guerra Mundial, uma vez que o equilíbrio europeu já havia sido rompido.
A unificação política realizada tardiamente pela Itália e pela Alemanha retardou a Revolução Industrial nesses países, que, chegando atrasados à corrida colonial contemporânea, ficaram à margem da divisão do mundo em áreas de influência. A ruptura do equilíbrio europeu com a unificação ítalogermânica e as lutas pela redivisão do mercado mundial iriam desembocar em 1914 na Primeira Guerra Mundial.
Unificação Italiana
O Congresso de Viena assinalou a divisão da Itália em sete estados soberanos: ao Norte o Reino Sardo-Piemontês, governado pela dinastia de Saboia; Reino Lombardo-Vêneto, ducados de Toscana, Módena e Parma sob o controle da Áustria; Estados Pontifícios sob o comando papal; e o Reino de Nápoles ou das Duas Sicílias, governado pela França.
O processo da unificação coube ao Reino Sardo-Piemontês e - a ação de um movimento liberal-nacionalista italiano. O processo patriótico era dividido na corrente denominada Jovem Itália, liderada por Mazzini que visava à República; os moderados liderados por Gioberti, queriam montar uma confederação em torno do papa e a terceira corrente denominada Il Risorgimento, liderada pelo conde Camilo de Cavour que propunha uma monarquia constitucional sob a liderança do Reino Sardo-Piemontês.
No começo de 1859, Cavour e Napoleão III firmaram um acordo de ajuda mútua e, graças a ele, a Áustria foi derrotada. O reino do Piemonte e Sardenha anexou a região da Lombardia e os ducados de Parma, Módena e Toscana. A França recebeu o condado de Nice. Porém, Napoleão III rompeu a aliança e firmou um acordo com a Áustria, que manteve sob seu domínio a região de Veneza.
Quando a notícia do movimento de unificação chegou a Garibaldi, republicano convicto, ele reuniu e chefiou um exército de voluntários, “os camisas vermelhas” e marchou sobre o Reino das duas Sicílias e de Nápoles, conquistando-os. Essa situação serviu de pretexto à intervenção militar de Vítor Emanuel II, que impôs seu domínio na região. Em 1861, os nacionalistas realizaram o Congresso de Turim e proclamaram o Reino da Itália, governado por Vítor Emanuel II.
A anexação de Veneza deu-se em 1866 e de Roma em 1870, com a chamada Questão Romana, em que o papa Pio IX não aceita a tomada de seus territórios (processo só finalizado em 1929 com a assinatura do Tratado de Latrão e a criação do Estado do Vaticano)
A grande beneficiada pela unificação da Itália foi a burguesia do Norte, que passou a ter mais mercados e capitais, favorecendo o desenvolvimento econômico da região.
Unificação da Alemanha
Após 1848, também teve início o processo de unificação da Alemanha, porém esse não ocorreu pela via revolucionária, como a italiana. A Alemanha naquele determinado momen-
A04 y Imperialismo e Primeira Guerra Mundial 421
O nacionalismo: a unificação da itália e da Alemanha
to era chamada Confederação Germânica, composta por 39 territórios que eram controlados pelas potências mundiais, já experimentava práticas de comércio comum por meio do Zollverein (liga alfandegária que abolia os impostos entre os estados da Confederação).
Influenciados pelos resultados da unificação italiana, príncipes alemães e a burguesia industrial e comercial, apoiados pelo primeiro-ministro Otto Von Bismarck, iniciaram o processo de unificação alemã. Houve a integração das diversas regiões do território, com a ampliação da rede ferroviária, o que contribuiu para o desenvolvimento econômico. Bismarck organizou militarmente o reino da Prússia, transformando seu exército no principal meio da unificação. Esse exército viu-se envolvido nas seguintes guerras:
n dos ducados contra a Dinamarca (1864): anexação dos ducados de Schleswig e Holstein;
n austro-prussiana (1866): conflito entre Áustria e Prússia conhecido como guerra das Sete Semanas. No ano de 1867, a Prússia conseguiu unificar todo o Norte da Confederação Germânica;
n franco-prussiana (1870): conflito entre a França e a Prússia - liderada por Bismarck, em aliança com os Estados do Sul da Confederação Germânica. Em 1871, por meio do Tratado de Frankfurt, a França entregava os territórios de Alsácia e Lorena à Alemanha.
Com esse processo, o rei Guilherme I passava a ser o imperador da Alemanha, cujo regime político seria a Monarquia Constitucional. A partir daí, a Alemanha, que recebeu os territórios de Alsácia e Lorena e a região do vale do Ruhr (rica em ferro e carvão), entrou num processo de grande industrialização. Disputou mercados consumidores, anteriormente dominados pela Inglaterra.
Primeira Guerra Mundial
As rivalidades interimperialistas, a consequente exacerbação dos nacionalismos e a formação de sistemas de alianças militares foram os fatores que originaram a Primeira Guerra Mundial. Ao final dos combates, a Europa teria suas fronteiras políticas reformuladas por meio de tratados de paz que se constituiriam no embrião da Segunda Guerra Mundial.
Fatores
A primeira metade do século XX foi marcada por duas grandes guerras mundiais. Na Europa, desde as Guerras Napoleônicas, ainda no século XIX, não havia ocorrido um confronto de tamanha envergadura e com um número tão grande de países envolvidos, o que confere o nome de Grande Guerra para o confronto.
Para entender a evolução da Primeira Guerra Mundial, deve-se buscar a compreensão de múltiplos fatores conjunturais e estruturais, que caracterizam o confronto como sendo um embate imperialista, no qual as rivalidades entre as potências representavam a competição econômica pela qual passavam.
A partir de meados do século XIX, especificamente dos anos 1880, deu-se o período conhecido como a “Paz Armada”, que seria entendido como o momento em que as potências canalizaram a produção industrial no setor armamentista.
Além disso, outros fatores poderiam ser elencados: a ruptura do equilíbrio europeu; o desenvolvimento industrial da Alemanha e a corrida naval; a rivalidade Anglo-Germânica (construção da estrada de ferro Berlim-Bagdá – lençóis petrolíferos do Golfo Pérsico e prejuízo no comércio com o Oriente); o Revanchismo Francês: a perda dos territórios de Alsácia e Lorena devido à derrota na Guerra Franco-Prussiana, prejudicou a economia francesa, que se viu privada das minas de ferro e carvão, fundamentais à sua indústria. Inconformados, os nacionalistas franceses pregavam o revanchismo e a recuperação de seus territórios.
Outros pontos ainda podem ser destacados tais como: o Pan-Eslavismo, que representava uma tentativa da Sérvia de criar um Estado Eslavo unificado sob o seu comando; a Questão do Marrocos (Inglaterra + França versus Alemanha) – teve como fim o Marrocos sendo controlado pela França e parte do Congo Francês passaria para o controle da Alemanha.
Em virtude de interesses múltiplos, os países se organizaram e formaram alianças, as quais podem ser destacadas: Tríplice Aliança, composta inicialmente por Itália, Áustria-Hungria e Alemanha e a Tríplice Entente que era composta por França, Rússia e Inglaterra.
Contudo, mesmo diante de tão intensos fatores, a Europa precisava de um elemento detonador para o processo explodir. Esse estopim deu-se com a morte do herdeiro ao trono austro-húngaro (Francisco Ferdinando) por um estudante sérvio em Sarajevo (capital da Bósnia).
Fases
A Primeira Guerra foi dividida em três fases, que podem ser assim analisadas:
1ª FASE: Guerra de Movimento dos exércitos, quando as forças em conflito apresentavam um certo equilíbrio. Os países que compunham a Entente não possuíam canhões de longo alcance mas, por outro lado, tinham domínio dos mares. Nessa fase, a Inglaterra decretou o bloqueio naval à Alemanha e aos seus aliados. Dentre os principais pontos desse período da guerra, podem ser destacados a elaboração pela Alemanha do Plano Schlieffen pelo qual os alemães pretendiam atacar primeiro a França e depois a Rússia, sem dividir seus exércitos e a Batalha do Marne que deu fim a essa primeira fase da guerra com vitória parcial da Entente.
2ª FASE: Período caracterizado pelo entrincheiramento de tropas, entre 1915 e 1917, quando os aliados tratavam de garantir suas posições estratégicas, neutralizando as táticas inimigas. Nesse período, a guerra foi desenrolada por meio da utilização da metralhadora e tanques de guerra. Dentre os principais elementos desse período, destacam-se a Batalha de Somme: batalha mais significativa da Guerra com um número maiúsculo
História 422 | PAS 2
de baixas: Alemães (600 mil homens) Ingleses e Franceses (500 mil); a saída da Itália da guerra diante da promessa de territórios; e a Batalha de Verdun com vitória francesa sobre a Alemanha.


3ª FASE: Fase Crítica (Entrada dos EUA e saída da Rússia)
1917-1918

Com a saída da Rússia devido a grande perda de soldados e para conter um levante interno (Revolução Bolchevique) e uma consequente eliminação da Frente Oriental da Guerra, a possibilidade de uma vitória alemã tornava-se maior. Esse fator faz com que os EUA entrem na guerra para, entre outros fatores, recuperar gastos astronômicos e empréstimos vultosos que já haviam empregado na guerra; para conter os ataques submarinos empreendidos pelos alemães que lhes vinham causando grandes prejuízos; e para evitar uma expansão da guerra uma vez que havia sido firmado um suposto acordo entre a Alemanha e o México.
Propostas de paz
Dentre as principais propostas de paz, estão os 14 pontos de Wilson e o Tratado de Versailles.

Pelos 14 pontos de Wilson, haveria uma “paz sem vencedores e sem vencidos”, porém para muitos, a ideia é de que “todo mundo perde só os EUA ganham”. Dentre os pontos principais dessa proposta, estão: os acordos públicos deveriam ser negociados publicamente; deveria haver a liberdade dos mares; a eliminação das barreiras econômicas entre as nações; limitação das armas nacionais ao nível mínimo compatível com a segurança; ajuste imparcial das pretensões coloniais; evacuação da Rússia; restauração da independência da Bélgica; restituição da Alsácia e Lorena à França; reajustamento das fronteiras italianas; desenvolvimento autônomo dos povos da Áustria-Hungria; restauração da Rumânia, da Sérvia e do Montenegro, com acesso ao mar para a Sérvia; desenvolvimento autônomo dos povos da Turquia; formação de uma Polônia independente, habitada por populações indiscutivelmente polonesas e com acesso ao
mar; e criação da Liga da Nações, entidade supranacional com o objetivo de manter a paz mundial.
Com o desenrolar da guerra e a não aceitação de todos os pontos propostos pelo presidente norte-americano Woodrow Wilson, a Alemanha acaba por sucumbir e assinar incondicionalmente sua rendição em novembro de 1918. Como forma de punição, meses mais tarde foi assinado o Tratado de Versalhes, que prejudicou enormemente a Alemanha frente às exigências feitas pelos vencedores da guerra. Esta ficou obrigada a restituir à França, Alsácia e Lorena; a ceder territórios à Bélgica, à Dinamarca e à Polônia; a ceder parte de suas colônias, que passariam ao controle anglo-francês; a ceder à França suas minas de carvão da Bacia do Sarre. Diante desse tratado imposto aos derrotados, a Alemanha perdia 1/6 de suas terras aráveis, 2/5 do seu carvão, 2/3 do seu ferro, 7/10 do zinco e o porto de Danzig que passava para o controle da Liga das Nações e ficava sob exploração econômica da Polônia. Além disso, a mesma estava proibida de ter aviação militar, marinha de guerra e serviço militar obrigatório (Exército com no máximo 100 mil homens). A Alemanha foi considerada a única responsável pela guerra tendo que pagar uma reparação de 33 bilhões de dólares.
Consequências
Dentre as principais consequências desse amargo confronto, estão: 8 milhões de mortos; o surgimento de Estados Independentes: Hungria, Tchecoslováquia, Iugoslávia, Polônia, Letônia, Lituânia, Estônia e Finlândia; transformação dos EUA na grande potência mundial; criação da Liga das Nações para a manutenção da paz mundial; organização de uma nova ordem mundial; progressiva degradação dos ideais liberais e democráticos; maior intervencionismo estatal; fortalecimento das paixões e sentimentos do nacionalismo; surgimento de regimes totalitários (nazifascismo); e aumento drástico do desemprego nos países europeus.

A04 y Imperialismo e Primeira Guerra Mundial 423
FIGuRA 03 - Foto de soldados nas trincheiras.
EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO
01. (unB DF) O período de vinte anos, compreendido entre a Primeira Grande Guerra e a Segunda Guerra Mundial, acarretou mudanças radicais na história da Europa e dos Estados Unidos. Quanto a essas mudanças, julgue os itens que se seguem.
E-E-E-C
01. Os Estados Unidos, que, por meio do Presidente Wilson, foram responsáveis pela criação da Liga das Nações, passaram a ter forte presença diplomática nos assuntos europeus.
02. Vitoriosas, as grandes democracias liberais da Europa Ocidental rapidamente se estabilizaram econômica e socialmente.
03. A Grã-Bretanha, que perdeu aproximadamente 32% da sua riqueza na guerra, enfrentou movimento políticos que puseram em crise a própria sobrevivência da democracia liberal britânica.
04. Confiando que os alemães pagariam as reparações e indenizações de guerras, impostas pelo Tratado de Versalhes, o governo francês financiou a reconstrução das regiões devastadas, por meio da emissão de apólices.
02. (uFu MG) Pouco antes de a Guerra Civil quase dividir os EUA em dois, o Exército imperial da Rússia enfrentou os Exércitos aliados da Grã-Bretanha, França e Império Otomano nos campos de batalha da Península da Crimeia, naquela que se tornou a primeira guerra moderna. Os campos de batalha da Crimeia testemunharam um terrível fato: 25 mil britânicos, 100 mil franceses e um milhão de russos morreram. A carnificina só não foi maior porque os avanços na área militar não haviam chegado para todas as partes do conflito. Este confronto também foi o primeiro a ser coberto em tempo real pelos jornalistas, que enviavam suas informações por telégrafo para Londres, Berlim e Paris. E as notícias não chegavam apenas em palavras, mas também em imagens pelas fotografias de Roger Fenton. Hoje, a Crimeia, península ao sul da Ucrânia, retorna ao noticiário.
GROLL, Elias; FRANKEL, Rebecca. Era uma vez a Guerra da Crimeia. Jornal Estado de São Paulo. Disponível em:<http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,era-uma-vez-a-guerra-dacrimeia, 1137711,0.htm>. Acesso em: 18 mar. 2014. (Adaptado)
A Guerra da Crimeia, ocorrida entre os anos de 1854 e 1856, marca o momento de tensões e mudanças internas dentro do sistema de relações internacionais entre as grandes potências europeias, acentuadas nos Bálcãs e no Oriente a partir do desmembramento do império turco-otomano. Sua definição enquanto “guerra moderna” deriva, entre outras coisas,
a) do processo de expansão da segunda Revolução Industrial e suas consequências no campo político, bélico e de comunicação.
b) do uso de diversas técnicas de guerra usadas pelos aliados franceses e britânicos, tais como a blitzkrieg e tecnologias aéreas.
c) do caráter geral do conflito, envolvendo diversas potências mundiais por questões imperialistas, fato que não voltará a ocorrer até 1939.
d) do caráter embrionário da polarização ideológica entre potências capitalistas e o Império Russo, já influenciado pelo ideário marxista.
03. (uFT TO) A Conferência de Berlim (1884-1885) é o grande marco da expansão do processo de “roedura” do continente iniciado por volta de 1430 com a entrada portuguesa na África.
Adaptado de HERNANDES, Leila L. A África na sala de aula São Paulo: Selo Negro, 2005. O chamado processo de “roedura” é uma metáfora utilizada para compreender as relações de dominação entre a Europa e a África. Essas relações estavam ligadas
a) à expansão marítima e comercial europeia que levou os europeus a conquistarem a América e a África no século XV, estabelecendo grandes colônias nesses continentes.
b) a um processo de longa duração, iniciado por volta de 1430 por meio de contatos comerciais, que se tornaram dominação
territorial efetiva somente depois de 1885 com a ocupação do continente pelas potências europeias.
c) à longa permanência de colônias europeias na África, colônias essas que se mantiveram mesmo depois das independências da América e foram legalmente reconhecidas pela Conferência de Berlim.
d) à conquista portuguesa do Congo em 1430, o que marcou o início do processo de colonização desse continente pelas potências europeias e levou os europeus a darem continuidade ao processo de expansão marítima e comercial.
e) às discussões seculares sobre a legitimidade da presença imperial europeia na África e que foram regulamentadas apenas na Conferência de Berlim de 1884-1885.
04. (Fuvest SP) Quando a guerra mundial de 1914-1918 se iniciou, a ciência médica tinha feito progressos tão grandes que se esperava uma conflagração sem a interferência de grandes epidemias. Isso sucedeu na frente ocidental, mas à leste o tifo precisou de apenas três meses para aparecer e se estabelecer como o principal estrategista na região (...). No momento em que a Segunda Guerra Mundial está acontecendo, em territórios em que o tifo é endêmico, o espectro de uma grande epidemia constitui ameaça constante. Enquanto estas linhas estão sendo escritas (primavera de 1942) já foram recebidas notificações de surtos locais, e pequenos, mas a doença parece continuar sob controle e muito provavelmente permanecerá assim por algum tempo.
Henry E. Sigerist, Civilização e doença São Paulo: Hucitec, 2010, p. 130-132. O correto entendimento do texto acima permite afirmar que
a) o tifo, quando a humanidade enfrentou as duas grandes guerras mundiais do século XX, era uma ameaça porque ainda não tinha se desenvolvido a biologia microscópica, que anos depois permitiria identificar a existência da doença.
b) parte significativa da pesquisa biológica foi abandonada em prol do atendimento de demandas militares advindas dessas duas guerras, o que causou um generalizado abandono dos recursos necessários ao controle de doenças como o tifo.
c) as epidemias, nas duas guerras mundiais, não afetaram os combatentes dos países ricos, já que estes, ao contrário dos combatentes dos países pobres, encontravam-se imunizados contra doenças causadas por vírus.
d) a ameaça constante de epidemia de tifo resultava da precariedade das condições de higiene e saneamento decorrentes do enfrentamento de populações humanas submetidas a uma escala de destruição incomum promovida pelas duas guerras mundiais.
e) o tifo, principalmente na Primeira Guerra Mundial, foi utilizado como arma letal contra exércitos inimigos no leste europeu, que eram propositadamente contaminados com o vírus da doença.
05. (unicamp SP) Leia os trechos abaixo e responda à questão.
Após a Primeira Guerra Mundial, a República de Weimar teve controle muito limitado sobre as forças militares e policiais necessárias à manutenção da paz interna. No final, a República caiu em consequência dessa limitação, fragilidade explorada por organizações da classe média, as quais achavam que o regime parlamentar-republicano as discriminava e, assim, procuraram destruí-lo.
(Adaptado de Norbert Elias, Os alemães Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997, p. 199 e 204).
A exigência da anulação da ‘paz imposta’ pelo Tratado de Versalhes foi, ao lado do anti-semitismo, o ponto mais importante na propaganda nazista durante a República de Weimar.
(Adaptado de Peter Gay, A cultura de Weimar Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978, p. 31 e 168).
a) O que foi a República de Weimar? Relacione-a à ascensão do nazismo.
b) O que foi o Tratado de Versalhes e qual o significado da expressão “paz imposta”?
a) A República de Weimar refere -se ao período democrático, de regime parlamentar-republicano da Alemanha entre 1918 e 1933, de grande efervescência cultural.
O candidato poderia mencionar que a ascensão do nazismo ao poder, foi facilitada pelo fraco controle das forças militares e policiais por parte do governo durante a República de Weimar, pela fragilidade trazida pelo Tratado de Versalhes e mesmo pelo surgimento das milícias paramilitares.
b) O Tratado de Versalhes, assinado entre a Alemanha e os países vencedores da Primeira Guerra Mundial, estabelecia a “Paz Imposta” (não negociada), segundo a qual a Alemanha perdeu soberania sobre o seu território, foi desmilitarizada e obriga da a pagar pesadas indenizações.
História 424 | PAS 2
W INDEPENDÊNCIA NA AMÉRICA LATINA
Os séculos XVIII e XIX são marcados pelas diversas mudanças que se processaram na Europa, tais como o Iluminismo, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Essas transformações permitiram que a América também fosse sacudida por uma onda de revoluções. Inspirados pela Independência das Treze Colônias, os colonos latinos buscaram romper o domínio colonial imposto pela Espanha, criando todas as condições para um processo emancipacionista que marcou toda a primeira metade do século XIX.
O Iluminismo, movimento empreendido primordialmente pela burguesia na Europa irradiou seus efeitos rapidamente pela América, o que contribuiu para o seu processo de independência. Sob a justificativa da emancipação, pesavam as ideias liberais de crença na razão humana, centralização no indivíduo, defesa dos direitos de liberdade, igualdade jurídica e livre comércio. Esses ideais serviriam como uma base para impulsionar revoltas e inspirar os sonhos patrióticos dos libertadores, que vislumbravam o florescer de uma nova América, subjugada por séculos de colonização.
Para melhor entender esse processo, é indispensável a análise sobre as invasões napoleônicas à Espanha, pois elas não só destituíram os monarcas espanhóis como colocam José Bonaparte, irmão de Napoleão, no trono espanhol. Esse processo de mudança de poderes faz com que os “olhos da Espanha” voltem-se exclusivamente para a Europa, permitindo à América uma certa autonomia. Diante desse quadro, destaca-se a ação dos criollos (elite local) que forma as Juntas Governativas com o intuito de promover a tão sonhada emancipação.
No âmbito local, vale destacar que o processo empancipacionista foi controlado pela elite criolla, que amparada nas massas soube utilizar-se dos valores do Iluminismo com o objetivo de promover a ruptura dos laços de dependência para com a metrópole. No entanto, os criollos serviram-se do Iluminismo, de forma indireta, pois pleiteavam mudanças jurídico-políticas, sem alterar o quadro socioeconômico existente na colônia, no qual detinham grandes privilégios.
Contudo, a concretização das lutas de emancipação despertou desejos e aspirações que não foram alcançados facilmente. As ideias liberais chocavam-se com alguns interesses colonias dos novos governantes que estavam profundamente ligados aos privilégios aristocráticos. Quando a independência foi alcançada, os sonhos de prosperidade deram lugar à desilusão e ao fracasso econômico devido aos longos anos de guerras e ao bloqueio imposto pela colônia. Diante desse quadro, entende-se que o processo emancipacionista que foi alavancado pelos ideais iluministas acabou por fracassar em virtude do desejo de manutenção de privilégios anteriores à independência.
Processo de Independência
O processo de independência das colônias da América Latina não pode ser considerado uniforme, pois a sua primeira fase foi marcada por movimentos que não lograram êxito mas que abriram caminho para o sucesso posterior. Movimentos como o de Tupac Amaru, no Peru e Francisco Miranda, na Venezuela, ainda são lembrados na história das Américas como precursores do independentismo.
Entre 1810 e 1816, em virtude da ausência inglesa em relação ao processo de independência, os movimentos foram derrotados em sua maioria. No entanto, com o fim das Guerras Napoleônicas, a Inglaterra retoma o processo de apoio à descolonização e a
425 FRENTE HISTÓRIA
A PAS 2
MÓDULO 05
TREINAMENTO
PROVA ITENS 2007 2008 2009 30 2010 2011 2012 28 2013 2014 2015 2016 2017 62 2018 2019 53 2020 2021
PAS
Espanha não pode conter tais ações em virtude do desagravo gerado pelas intervenções estrangeiras em seu território.
Apesar da preparação intelectual de seus líderes e da força militar empreendida, as sociedades da América espanhola não amadureceram após a independência. Por três séculos de colonização, a liderança política dos povos latino-americanos esteve nas mãos das metrópoles europeias, que exportavam para o Novo mundo suas instituições aristocráticas.
Não obstante, pode-se destacar o intento de Simon Bolívar que, após a efetivação da independência, buscou um processo de integração, idealizando uma grande nação, o que mexera com o imaginário americano. Contudo, o ideal de Bolívar não é o único nesse processo, pois devemos ainda ressaltar a importância do Monroísmo nesse projeto integrador.
Bolívar após a emancipação, convocou os representantes de países recém libertos para participarem em 1826 da Conferência do Panamá. Seu grande sonho era formar uma confederação panamericana, calcada na solidariedade continental. No entanto, deve-se entender que o processo bolivarista confrontou-se com interesses internos e externos, a destacar: a Inglaterra que não queria uma nação forte e era adepta da política: “divida e domine”; os EUA que naquele momento lançavam a Doutrina Monroe, que era representada pela frase “América para os americanos”; e os membros da elite criolla que viam nesse projeto um pretenso prejuízo para seus interesses de mando.

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO
01. (uFu MG) Sobre o processo histórico da emancipação política das colônias hispano-americanas, é correto afirmar que:
I. Influenciados pelas ideias iluministas, os movimentos de independência na América hispânica definiram-se ideologicamente pela implantação de sociedades democráticas, em que o voto universal, a liberdade e igualdade de todos foram garantias para o fortalecimento das repúblicas federativas em todo o continente.
II. As populações indígenas, que constituíam o campesinato escravizado pelos espanhóis, viram esses movimentos como libertação da exploração a que eram submetidas. Por isso, foram a principal base de sustentação dos movimentos de independência liderados pelos criollos.
III. no México, o caráter social e étnica, assumido inicialmente pelo movimento de independência, deve-se à organização e mobilização das populações camponesas e indígenas, que lutaram para eliminar os privilégios da aristocracia criolla e espanhola.
IV. A independência política das colônias hispano-americanas está relacionada à invasão da Península Ibérica pelas tro-
Diante do fracasso da proposta bolivarista, a América viu-se fragmentar politicamente em um grande número de jovens repúblicas oprimidas por caudilhos militares, exploradas por oligarquias rurais e acorrentadas a uma nova forma de dependência econômica imposta pelo capitalismo inglês.
pas de Napoleão Bonaparte, que depuseram o rei espanhol, criando, assim, um vazio de poder. Esse vazio de poder foi preenchido pelas Juntas Governativas, que assumiram o direito de autogovernar-se.
Assinale a alternativa correta.
a) Apenas III e IV
b) Apenas I e II
c) Apenas II e IV
d) Apenas II e III
02. (uFRGS RS) Leia o trecho abaixo.
O propósito de muitos, se não da maioria, dos conflitos políticos da América espanhola, no período posterior à independência, foi simplesmente determinar quem deveria controlar o Estado e seus recursos. Não obstante, surgiram outras importantes questões políticas que variaram de país para país em caráter e importância. Entre 1810 e 1845, a discussão sobre estrutura centralista e federalista do Estado foi fonte de violento conflito no México, na América Central e na região do Prata.
História 426 | PAS 2
FIGURA 01 - Simon Bolivar
Fonte: Wikimedia commons
SAFFORD, Frank. Política, ideologia e sociedade na América espanhola do pós-independência . In: BETHELL, Leslie. História da América Latina, vol. III: da Independência até 1870 São Paulo: Edusp, 2001. p. 369.
O segmento faz menção aos conflitos que se seguiram às independências na América Espanhola.
Assinale a alternativa que indica algumas das consequências desses confrontos.
a) O conflito entre federalistas e centralistas resultou em governos constitucionalmente frágeis e politicamente instáveis em quase toda a região, durante parte do século XIX.
b) A recolonização da região pela Espanha, dada a fragilidade institucional das novas repúblicas independentes.
c) O surgimento de governos democráticos e com ampla participação popular, ainda no século XIX, como uma das formas de resolução desses conflitos políticos.
d) A estruturação de monarquias centralizadas por toda a região, após o fracasso político das repúblicas independentes.
e) A vitória dos movimentos federalistas e a derrota definitiva dos projetos centralistas e autoritários que se opunham a eles.
Considerando o extrato da “Carta de Jamaica”, de Simón Bolívar, e com base nos conhecimentos sobre as independências na América espanhola, assinale a alternativa correta.
a) Os movimentos de independência na América espanhola foram impulsionados pela tentativa de invasão napoleônica no Haiti recém-libertado. A Carta de Jamaica foi o documento que fundamentou esses movimentos.
b) Os movimentos de independência foram liderados por mestiços e escravos que ansiavam conseguir a liberdade expulsando os espanhóis. Aproveitando a ausência do rei Fernando VII, encarcerado por Napoleão, Bolívar escreveu a carta na Jamaica, chamando todas as colônias a se unirem para formar uma grande federação contra a coroa espanhola.
c) Simón Bolívar foi o grande artífice das independências da América espanhola. Seu carisma e poder de mando permitiram unir todos os movimentos em uma grande frente libertadora, que começou na Argentina em 1816 e chegou até a Colômbia em 1821.
d) O projeto de Simón Bolívar era tornar as colônias governadas pela Espanha em uma grande confederação de estados nos moldes das colônias americanas do Norte, porém as diferenças entre alguns líderes no interior do movimento anticolonial não viam com bons olhos esse projeto.
e) A Carta de Jamaica foi a primeira declaração de independência das colônias espanholas. Escrita no formato da declaração de independência haitiana, declarava o fim da escravidão nas colônias e a expulsão dos peninsulares das terras americanas.
O sangue dos mártires da revolução fertilizando a terra (Mural pintado em1927) Nesse mural, o pintor mexicano retratou a morte de Emiliano Zapata. Observando a pintura, é correto afirmar que Rivera

a) foi uma rara exceção, na América Latina do século XX, pois artistas e escritores se recusaram a relacionar arte com problemas sociais e políticos.
b) retratou, no mural, um tema específico, sem semelhanças com a situação dos camponeses de outros países da América Latina.
c) quis demonstrar, no mural, que, apesar da derrota armada dos camponeses na Revolução Mexicana, ainda permaneciam esperanças de mudanças sociais.
d) representou, no mural, o girassol e o milharal como símbolos religiosos cristãos, próprios das lutas camponesas da América Latina.
e) transformou-se numa figura única na história da arte da América Latina, ao abandonar a pintura de cavalete e fazer a opção pelo mural.
04. (uFPR) Leia o texto a seguir.
É uma ideia grandiosa pretender formar de todo o mundo novo uma só nação com um só vínculo, que ligue suas partes entre si e com o todo. Já que tem uma mesma origem, uma mesma língua, mesmos costumes e uma religião, deveria, por conseguinte, ter um só governo que confederasse os diferentes Estados que haverão de formar-se [...].
Fonte: <http://www.iela.ufsc.br/noticia/sim%C3%B3n-bol%C3% ADvar-e-carta-da-jama-ica>. Acesso em: 06 agosto 2017.
05. (unicamp SP) O pastor norte-americano Pat Robertson, dono do canal de comunicação Christian Broadcasting Network, afirmou que a tragédia provocada pelo terremoto no Haiti, em janeiro de 2010, foi decorrente do “pacto com o diabo” que setores da população haitiana teriam feito para que o país se tornasse independente. Nas palavras do Pastor, "Os haitianos estavam sob o jugo da França. Eles se uniram e fizeram um pacto com o diabo. Disseram: 'Serviremos a ti caso nos liberte da França'".
(Adaptado de Haroldo Ceravolo Sereza, “Pastor americano atribui terremoto a 'pacto com o Diabo' e provoca protestos; país se libertou da França em 1804”. Uol notícias 14/01/2010.Disponível em https://noticias.uol.com.br/ especiais/terremoto-haiti/ultnot/2010/01/14/ult9967u9.jhtm. Acessado em 30/08/2017.)
A partir da leitura do texto e de seus conhecimentos, assinale a alternativa correta.
a) A independência do Haiti foi decisiva para que o Império Brasileiro, que projetava a construção de um Estado Nação reconhecido internacionalmente, reprimisse movimentos como a Revolta Malês, em Salvador (1835).
b) A declaração do Pastor é pautada em preconceitos em relação às práticas religiosas dos afrodescendentes no Haiti. A conquista espiritual, parte dos projetos imperialistas, garantiu a eliminação de religiões consideradas pagãs nas Américas.
c) Colônia francesa nas Antilhas, Saint Domingue tornou-se responsável por 40% da produção mundial de cacau no século XVIII. A mão de obra empregada era majoritariamente escrava, com a exploração de africanos ou de seus descendentes.
d) O processo de independência do Haiti foi apoiado por outras colônias, interrompendo o projeto imperialista europeu no Novo Mundo. Após 1804, os EUA conduzem as ações imperialistas na América, tornando-se a principal referência cultural no continente.
A05 y Independência na América Latina 427
03. (Fuvest SP) Diego Rivera
W ÁFRICA: REINOS AFRICANOS, COLONIALISMO E RESISTÊNCIA
Por que estudar história da África?
Quando estudamos o início dos seres humanos, é comum nos depararmos com a frase “A África é o berço da humanidade”. Essa afirmação já demonstra a extrema importância do continente para a vida humana e para o desenvolvimento das sociedades. Porém, a relevância do continente não é aparente apenas na nossa herança genética. Os costumes e a cultura africanos são fundamentais para compreender os rumos que a humanidade tomou ao longo de sua história. Quando falamos de Brasil e de herança africana, a importância dos povos africanos se mostra ainda maior, pois o povo africano é considerado um dos pilares primordiais na formação da sociedade brasileira.

Se a vida surgiu na África, os costumes e a cultura também têm sua origem em solo africano. É importante compreender a história de continentes que fogem da lógica eurocêntrica, para que se possa ampliar a nossa concepção histórica e que seja possível aprimorar a nossa capacidade de relativizar as concepções sociais e culturais.

Nossos antepassados
428 FRENTE HISTÓRIA MÓDULO
PAS 2
06 A
Fonte: Wikimedia commons
Fonte: Wikimedia commons TREINAMENTO PAS PROVA ITENS 2007 77 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 63 2018 11 - 12 2019 2020 2021 27-28-29-30-62
A existência dos diversos seres no planeta Terra é explicada pela teoria da evolução. A evolução (ou a mudança) nem sempre aponta para o progresso linear. Muitos hominídeos coexistiram juntos. Nossa espécie não é o resultado final de todos os gêneros de primatas que surgiram no nosso passado remoto.
Os hominídeos mais antigos de que temos registro foram os Ardipithecus com fósseis encontrados na atual Etiópia datados de 5,5 e 4,5 milhões de anos. O gênero Homo, do qual fazemos parte, provavelmente apareceu há apenas 2 milhões de anos. Os antepassados Homo mais antigos que encontramos vestígios eram os Homo habilis, seres com maior capacidade cerebral capazes de criarem utensílios de pedras. Ao observar a distância entre o aparecimento dos primeiros hominídeos e o surgimento do gênero Homo, percebemos que a evolução é um processo lento e gradual.
A enorme capacidade de adaptação de nossa espécie e as migrações ocorreram após o aparecimento de nossa espécie o Homo sapiens sapiens Após o nosso surgimento na África, os seres humanos povoaram todos os continentes e criaram as diversas civilizações que estudamos.
O Homo sapiens sapiens não era a única espécie capaz de se adaptar e com uma capacidade cerebral mais elevada. O Homo sapiens neanderthalensis provavelmente conviveu com nossa espécie durante milhares de anos. Provavelmente, povoaram parte da Europa. Os primeiros fósseis foram encontrados na Alemanha e tinham imensa habilidade de sobreviver ao frio, povoaram a terra durante a era glacial e são considerados a primeira espécie a realizar rituais religiosos.

W Idade da pedra lascada, ou período paleolítico
O período tradicionalmente chamado de paleolítico inferior corresponde ao aparecimento das espécies de hominídeos, ao aparecimento dos primeiros instrumentos de pedra e ao domínio do fogo. Esta habilidade foi de extrema importância para o desenvolvimento humano, pois proporcionou enormes mudanças na vida humana, uma vez que o fogo permitiu que os hominídeos se aquecessem durante o inverno e noites frias, afugentassem animais e cozinhassem os alimentos.
A quarta glaciação ocorreu durante o período paleolítico superior. Como consequência da diminuição de temperatura, os humanos passaram a habitar cavernas. O domínio de armadilhas no chão permitiu a caça de animais maiores como o mamute e o bisão.
A denominação “pedra lascada” define bem o período da história humana que começou há 2,5 milhões de anos. Os artefatos feitos de pedra afiada (e de outros materiais como osso e madeira) eram utilizados para a caça de animais. Nesse estágio, o ser humano era essencialmente nômade e migrava entre os territórios em busca de alimentos. A divisão do trabalho ocorria entre homens e mulheres. Os primeiros eram destinados à caça e à pesca. As mulheres praticavam a colheita, a preparação de alimentos e cuidavam da educação das crianças.
Culturas nômades costumam apresentar traços próprios de religiosidade. Os povos paleolíticos desenvolveram crenças matriarcais centradas na imagem da mulher. Figuras como a Vênus de Wilendorf, demonstram a extrema importância da fertilidade para essas sociedades. O ventre avantajado e os seios fartos relevam o caráter sacro da maternidade e a valorização do feminino. O nascimento da vida era atribuído unicamente às mulheres, e as relações sexuais eram parte do ritual que possibilitaria a mulher gerar vida. O vermelho ocre era frequentemente utilizado em rituais fúnebres e em diversos ritos religiosos como forma de evocar o ventre materno. É importante lembrar que as estatuetas femininas não eram apenas ornamentais, as imagens eram cultuadas e reverenciadas. As primeiras pinturas rupestres que representavam animais e formas da natureza também surgiram nessa época.

W O período da pedra polida, ou o neolítico
Quando os antigos hominídeos passaram pelo processo de sedentarização e a coleta de alimentos foi substituída pela agricultura, tem-se o fim do paleolítico e o início do período conhecido como neolítico. O início dos agrupamentos humanos tem um ponto em comum: a necessidade da água para se desenvolver. A utilização de rios e lagos foi importante para o florescimento da vida humana, pois esteve intimamente ligada à agricultura. Muitos historiadores acreditam que as
A06 y África: reinos africanos, colonialismo e resistência 429
Fonte: Wikimedia commons
Fonte: Wikimedia commons
mulheres inventaram a agricultura, pois eram as responsáveis pela coleta e pelo contato com a terra. Os primeiros humanos se sedentarizaram nas margens dos rios e geraram uma verdadeira revolução em seu modo de vida.
Esse processo, que é conhecido como revolução neolítica, permitiu o aprimoramento de tecnologias para a caça e plantio, a criação da cerâmica, que auxiliava na coleta do alimento, e o crescimento populacional. Em história, usamos o termo “revolução” para demarcar grandes mudanças de estruturas.
A agricultura permitiu o estoque de alimentos. Sem se preocupar constantemente em adquirir comida, os humanos puderam usar sua habilidade criativa para dominar novos materiais. A utilização do metal ocorreu nesse momento assim como a criação de animais. A especialização e a divisão do trabalho foram acentuadas. Os alimentos que sobravam da agricultura eram utilizados como moeda de trocas entre as civilizações e assim nasceu o co mércio.

das economias mais diversificadas do continente africano. O turismo é uma das atividades mais lucrativas para o país. Todos os anos, milhares de pessoas viajam até Cairo para visitar os resquícios de uma das civilizações mais antigas e intrigantes do mundo. Se hoje a influência de Maomé está presente na forma de vida e na crença dos egípcios, há milhares de anos o politeísmo predominava na região.


Reinos africanos
O continente africano foi palco de diversas civilizações que tiveram o seu momento de apogeu e declínio. Os inúmeros reinos que surgiram na África são a prova da complexidade cultural e política da região. Estudar as diversas civilizações que se estruturaram lá é importante para compreender que, antes da chegada dos europeus, os africanos tinham sociedades heterogêneas e plurais.
O Egito antigo
A República Árabe do Egito foi palco de algumas das manifestações políticas mais significativas do século XXI. Hoje, trata-se de um país de maioria mulçumana sunita com uma
No capítulo anterior, vimos a importância dos rios para a formação dos primeiros agrupamentos urbanos. O crescimento e florescimento da civilização egípcia ocorreu às margens do rio Nilo. Esse rio banhava o solo nos períodos das cheias cobrindo a terra com húmus (uma substância que servia de adubo ao solo) possibilitando o plantio. As primeiras unidades políticas eram chamadas de nomos, que eram governadas por nomarcas. Posteriormente, houve a divisão entre o baixo Egito ao Norte e alto Egito ao Sul. A conquista do baixo Egito pelo alto, chefiada pelo rei Menés, deu início aos impérios.
A administração egípcia era intimamente ligada com a visão religiosa. O faraó (principal líder político) era uma figura sagrada e considerado filho de Rá, o deus sol. O posto do faraó era hereditário e passado para o primogênito (o filho homem mais velho). Os sacerdotes eram extremamente ricos e importantes para a sociedade. O culto aos deuses (com características zoomórficas e antropomórficas) era uma prática constante e cada cidade tinha uma divindade protetora. A construção das pirâmides e o processo de mumificação eram componentes das doutrinas religiosas e faziam parte dos ritos funerários. Os egípcios tinham uma profunda e elaborada crença na vida após a morte. Eles acreditavam que, quando uma pessoa morria, ela passaria pelo tribunal de Osíris. Se o coração dessa pessoa fosse mais leve do que uma pluma, segundo a religião egípcia, ela viveria em bosques com pássaros; caso ele fosse mais pesado, a pessoa era condenada a uma segunda morte.
A sociedade egípcia era altamente estratificada e composta pelo faraó, por sacerdotes, por funcionários públicos (dentre eles o escriba, responsável pelos registros escritos e por controlar as atividades comerciais), artesãos, comerciantes, militares, agricultores e escravos (capturados em guerras e responsáveis pela construção das pirâmides). A agricultura era a base da sociedade. Com a expansão e o domínio de novos territórios, o comércio foi desenvolvido e ganhou importância.
História 430 | PAS 2
Fonte: Wikimedia commons
Fonte: Wikimedia commons
Fonte: Wikimedia commons
A civilização da Núbia conhecida como reino de Kush teve sua história profundamente ligada com o Antigo Egito. O rio Nilo foi o responsável pelo aparecimento da civilização e desenvolvimento da agricultura e da pecuária. Comerciantes por excelência, os cuxitas praticavam o comércio com os egípcios. Além das relações econômicas, ocorreram fortes disputas políticas, o que culminou na dominação dos faraós (período conhecido como dinastia dos faraós negros).

O sistema político dessa civilização era muito particular. Seus reis eram indicados pelos líderes da comunidade. Após escolherem um candidato que os cidadãos julgavam ser forte e preparado, submetiam-no à vontade de Deus. Caso a divindade concordasse com o futuro rei, o governo era formado com a legitimidade divina. Uma característica curiosa da civilização cuxita era a importância das mulheres na política. A mãe do rei, muitas vezes chamada de rainha-mãe, detinha amplo poder e algumas mulheres chegaram a comandar a sociedade.
O sistema governamental e o rígido controle que a nobreza exercia na mineração permitiram que a sociedade núbia mantivesse grande estabilidade política. O comércio exercido com o Egito e com países na orla do mediterrâneo foram uma das bases econômicas da civilização. Junto à atividade comercial, os cuxitas praticavam a pecuária e a mineração. O ouro e as pedras preciosas eram abundantes na região e permitiram que a cidade de Meroé desenvolvesse um artesanato original e intenso. O fim do reino de Kush provavelmente está ligado ao enfraquecimento do comércio e ao aparecimento de civilizações mais fortes.
Os povos africanos vistos anteriormente tiveram seu apogeu no período histórico conhecido como Antiguidade. Durante a idade média europeia, outros impérios cresceram e ruíram no continente. O comércio e o domínio do ouro eram duas grandes características dos reinos que se formaram a partir do século VI. A expansão do islamismo na África foi impulsionada após a islamização dos berberes (povos nômades que controlavam as rotas comerciais).
Gana era o nome do antigo líder político que dominou um vasto império localizado entre o deserto do Saara e os rios Níger e SenegaI. Atualmente, convencionou-se a chamar esse reino de Gana. O controle das rotas comerciais, a cobrança de impostos e o domínio da extração do ouro permitiram que o rei Gana tivesse amplos poderes e riquezas. Não se tratava de um império com fronteiras bem determinadas e todos que estivessem sob seu poder deveriam pagar impostos e oferecer homens ao exército. Durante muitos anos, o reino de Gana foi o principal exportador do ouro no Saara. O declínio de seu poder provavelmente esteve relacionado com o aparecimento de impérios mais poderosos e com o esgotamento das reservas de ouro.

O império do Mali originou-se dos antigos povos malineses que viviam sob o domínio do povo sosso e eram obrigados a pagar tributo ao reino de Gana. Assim, com o Gana, a base mercantil e o controle das minas foram de extrema importância para o crescimento econômico e político malinês. A agricultura, o artesanato e a pecuária também foram atividades significativas. Embora o rei fosse convertido ao islamismo, o que lhe proporcionava o título de mansa, a região era etnicamente diversificada e a política de tolerância religiosa amplamente difundida. Os poderes econômico e militar permitiram que o reino de Gana fosse o maior e mais poderoso império da época. A cidade de Tombuctu destacava-se graças à sua força comercial e ao desenvolvimento intelectual. A chegada dos portugueses e o aparecimento do império Songai provavelmente foram os fatores que levaram à decadência de Mali.

W Reino do Congo
A tradição oral dizia que o reino do Congo surgiu do casamento entre líderes locais de origem banto (povos agrícolas que dominavam a produção de ferro e possuíam um tronco linguístico comum). O senhor do Congo, ou manicongo como era chamado, dominava diversas áreas conquistadas, distribuindo justiça e respeitando antigas hierarquias políticas.
A06 y África: reinos africanos, colonialismo e resistência 431 A civilização Núbia
Fonte: Wikimedia commons
Fonte: Wikimedia commons
W Reinos da África ocidental: Gana e Mali
Fonte: Wikimedia commons
As principais atividades econômicas eram a agropecuária, o artesanato em ferro e o intenso comércio. Pequenas conchas chamadas de nzimbos serviam como moedas e eram rigidamente controladas pelo manicongo. Tratava-se de um povo que seguia antigas crenças africanas e seu rei desempenhava o papel de intermediário com os espíritos ancestrais. Dessa forma, além de promover a defesa militar o rei do congo proporcionava proteção espiritual.
O contato com os portugueses, a partir de 1483, causou o desmantelamento do reino do Congo. Houve tentativa de cristianização e alianças entre os habitantes locais e os recém-chegados estrangeiros. O rei Nzinga Mbemba chegou a se aliar com os portugueses para ganhar o trono de seu irmão. Ele abriu mão de sua antiga religião e mudou seu nome para Afonso I do Congo. Porém, os portugueses estavam interessados apenas no comércio de escravos e na extração de metais preciosos.
África: colonização e resistência
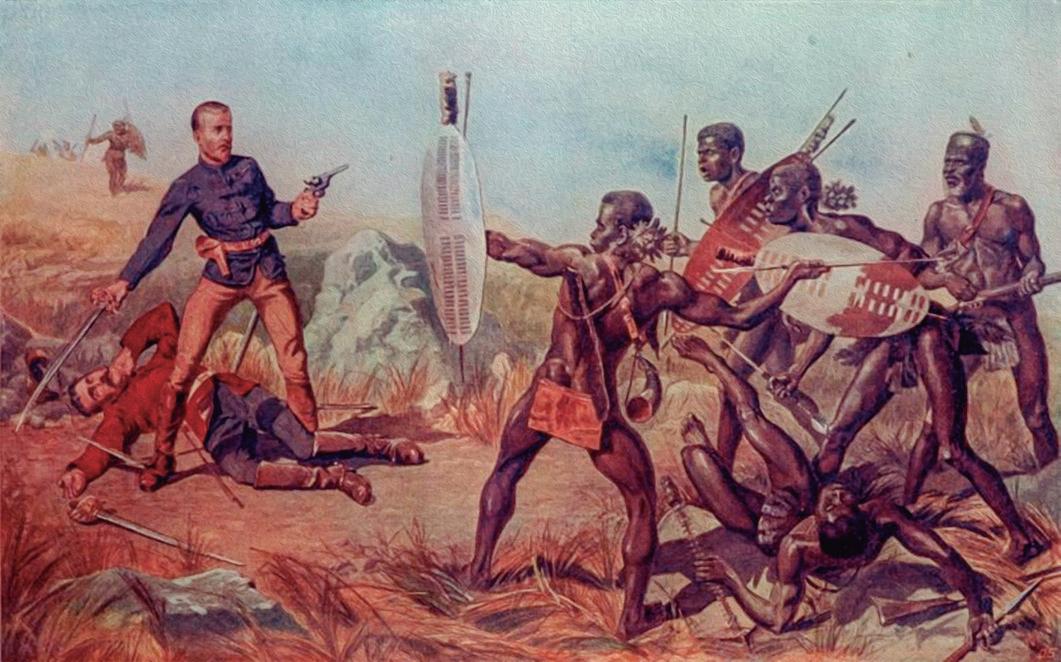
Como legitimar o imperialismo numa época em que a colonização e a escravidão terminavam? O colonialismo americano era superado pelos movimentos de independência e criação dos países modernos, o tráfico de escravos fora abolido e condenado como impraticável. Dentro desse contexto, a ciência, não mais a religião como ocorrera com os povos indígenas, foi convidada a tecer justificativas para o movimento europeu. A teoria da superioridade das raças coroava os esforços imperiais como necessários e humanamente desejáveis.
A ciência do século XIX afirmava que os seres humanos pertenciam a raças diferentes e os brancos eram superiores aos negros. O darwinismo social pregava que os agrupamentos humanos passaram por diferentes processos de evolução justificando a superioridade de uma raça em detrimento de outra. A Revolução Industrial e os avanços técnicos serviram de fundamento para os europeus levarem a sua cultura e imporem seus costumes. A curto prazo, os efeitos dessa teoria foram a crença na superioridade branca e a tentativa de aniquilar o modo de vida das diversas sociedades africanas com o intuito de encaixar homens e mulheres no molde europeu. A longo prazo, as consequências foram mais nocivas, o racismo, que já existia com o processo de escravidão nas Américas, foi justificado e até hoje é um mal enraizado no mundo.
Resistência
A colonização do continente africano foi um fenômeno que impulsionou diversos acontecimentos no mundo. O processo chamado de neocolonialismo, ou imperialismo, foi resultado da rápida expansão industrial pelo qual a Europa passava durante o século XIX. Dentre as repercussões desse movimento, destacam-se o desenvolvimento das indústrias, a eclosão da Primeira Guerra Mundial e as lutas por áreas de influência durante a Guerra Fria. Se a colonização da África ressoou mundo afora, é no continente africano que veremos o efeito mais pernicioso dessa empreitada europeia com consequências que ecoam até hoje.

A corrida imperialista por matéria prima, mão de obra barata e novos mercados consumidores aumentou a inimizade entre os países europeus. Todos queriam um pedaço da África e da Ásia, e apenas estabelecer relações comerciais baseadas no escambo não era mais suficiente para os impérios que passavam pelo processo industrial. Dessa forma, os países europeus partilharam o continente africano, de modo a separar e juntar territórios sem considerar as peculiaridades regionais. Esse movimento chamado “partilha da África” tem como marco a Conferência de Berlim realizada entre 1884 e 1885. A questão territorial descaracterizou as estruturas políticas do continente africano, o que levou muitas populações a entrarem em conflitos.
Muitas vezes os livros de história apresentam uma visão eurocêntrica sobre o neocolonialismo do século XIX, passando a impressão de que a África era um enorme continente esperando para ser conquistado. Comumente acreditamos que os europeus não encontraram empecilhos para subjugar a população nativa. Essa perspectiva é errada e preconceituosa, pois é preciso considerar os povos africanos como agentes históricos que pensam, reagem e atuam.
Muitos estudiosos afirmam que a vitória dos europeus ocorreu graças à superioridade técnica ilustrada no domínio de rifles com tiro rápido. Apesar das diferenças tecnológicas, a Europa encontrou inimigos ferozes e empenhados em manter sua liberdade. Um exemplo de sistemática resistência africana ocorreu na região do atual Madagascar contra os franceses. O primeiro-ministro na época comandava um pro-
História 432 | PAS 2
Fonte: Wikimedia commons
Fonte: Wikimedia commons
cesso de modernização na região para impedir os invasores, porém os franceses se interessaram pela região e, após duas guerras intensas, a França derrubou o governo local.
O domínio do continente foi conflituoso em praticamente todos os casos. Outros exemplos famosos de resistência ocorreram no Sudão, no Egito, na Líbia e na Costa do Ouro. É importante ressaltar que o tipo e o grau de resistência variavam entre diversas áreas e diferentes povos, mas fossem grupos politicamente centralizados ou não, os africanos reagiram a investida europeia. Embora pouco estudados e valorizados por uma história centrada no ponto de vista europeu, a resistência africana foi importante na época e ainda representa parte da força e da determinação do povo africano.
Colonização francesa e inglesa

Embora a Argélia tivesse sofrido duas etapas coloniais, devido a uma forte resistência contra os franceses, a França só conseguiu total controle sobre o território apenas no século XIX. Inicialmente, a França estabeleceu um protetorado na região, submetendo os líderes locais a suas políticas. Posteriormente, os franceses assumiram o governo e ocorreu uma onda de imigração europeia. Os povos eram tratados diferentemente, enquanto os nativos mulçumanos, que compunham a maioria da população local, eram obrigados a trabalhar no cultivo de alimentos para a exportação e tinham a maioria dos direitos básicos negados. Os europeus e judeus argelinos recebiam cidadania francesa e tinham plenos direitos.
O imperialismo francês no continente africano começou pela Argélia e se estendeu por Madagascar e grande parte da África ocidental e central além de um largo pedaço no norte do continente. O primeiro contato ocorreu no século XVII com o Senegal. Nesse período, os franceses criaram entrepostos para o tráfico de escravos e não chegaram a colonizar o território, mais preocupados em estabelecer colônias nas Américas. Comumente, a França estabelecia um protetorado nas regiões dominadas, um tipo de governo que permitia líderes locais fiscalizados por um representante francês.
A colonização da Argélia começou em 1830 com o pretexto francês de levar civilização e modernidade para o território.
A Inglaterra era o maior império do mundo no século XIX chegando ao ápice de seu poder durante o reinado da rainha Vitória. Sua investida colonial subjugou diversos territórios. No território africano, impôs seu imperialismo no Egito, Sudão, Uganda, África do Sul, atuais Quênia e Zimbábue. Os povos árabes do Sudão apresentaram forte resistência contra os britânicos. Frequentemente, a administração britânica era feita de forma indireta com a manutenção de chefes locais. Na África do Sul, os bôeres, descendentes de antigos colonizadores holandeses, formaram outro movimento de resistência. A luta contra os britânicos foi longa e diversos problemas políticos atrapalhavam a negociação entre os dois povos, principalmente a questão escravocrata. Os bôeres praticavam a escravidão em grandes latifúndios, e os ingleses eram sistematicamente contra a prática.

A06 y África: reinos africanos, colonialismo e resistência 433
Fonte: Wikimedia commons
Fonte: Wikimedia commons
África: movimentos de independência

O continente africano conquistou a sua independência no contexto posterior à Segunda Guerra Mundial. Após anos de presença europeia, os povos africanos encontraram um cenário mundial que favorecia suas lutas e aspirações à liberdade. Com o término da guerra, os países europeus estavam enfraquecidos economicamente. O esforço das nações era empregado na recuperação local, e muitas colônias foram deixadas em segundo plano.
É importante destacar que cada país africano conseguiu sua independência em movimentos próprios. Embora haja similaridades nas lutas e no momento da emancipação, todo o processo foi único e com características próprias. Um exemplo foi a emancipação tardia da Namíbia, que ocorreu apenas em 1990. A formação dos países manteve as divisões artificiais traçadas no continente durante a conferência de Berlim, o objetivo dessa decisão era apaziguar os conflitos entre os diferentes povos. O efeito da manutenção territorial foi oposto ao esperado e diversas rivalidades locais afloraram durante e após o processo.
Os movimentos de independência aconteciam por diversas vias. Muitos grupos pegaram em armas e enfrentaram os colonizadores por meio de lutas sistemáticas que levaram a muitas mortes. Outros preferiam vias pacíficas como passeatas, greves e boicotes aos produtos europeus. É importante compreender que a emancipação dos cinquenta e quatro países africanos foi uma consequência das lutas e desejos locais por liberdade, não foram movimentos que partiram dos europeus. É relevante reforçar essa visão para colocar os africanos como protagonistas de sua história.
Muitos críticos afirmam que a independência ocorreu de forma parcial e muitos países continuam economicamente e politicamente subordinados a metrópoles ocidentais. Um exemplo foi a enorme influência da Guerra Fria nos movimentos africanos ocasionando a busca por identificação com os blocos capitalistas e socialistas. Muitos países africanos continuaram como exportadores de matéria prima para as nações industrializadas.
África: pan-africanismo
O pan-africanismo é um movimento importante que prega a integração e solidariedade entre todas as pessoas de origem africana. É difícil definir o movimento, pois pre-
História 434 | PAS 2
Fonte: Wikimedia commons
ga a valorização das culturas africanas em diversas esferas: social, política, econômica, filosófica, literária e cultural. Os adeptos ao pan-africanismo defendem que a união é um meio de fortalecimento e luta contra a sociedade eurocêntrica e racista. O movimento é muito forte fora da África com diversos adeptos espalhados pelo mundo.
Kwame Nkrumah foi uma figura importante dentro do pan-africanismo. Ele pregava a unidade política dos países africanos, fim do colonialismo europeu e unidade econômica para fortalecer os mercados internos. Lutou no movimento de descolonização de Gana e atuou como primeiro-ministro e presidente no país. As inúmeras independências africanas nos anos 1960 impediram o surgimento de uma África politicamente unida, o alinhamento dos países entre os dois blocos da Guerra Fria também prejudicou as aspirações pan-africanistas.

África: Angola e Moçambique


As colônias portuguesas eram responsáveis por grande parte das riquezas que chegavam até Portugal. A enorme dependência que o país tinha na exploração africana resultou em lentos e violentos processos de emancipação que encontraram êxito apenas na década de 1970, dez anos após a maioria dos estados africanos. Guiné-Bissau foi a primeira colônia portuguesa a conseguir sua soberania.
A Organização de Unidade Africana foi um movimento criada em 1963 que defendia a superação das heranças coloniais e pregava a independência dos países africanos. Essa associação surgiu com influências pan-africanistas. Além de pregarem a unidade africana, seus adeptos também defendem a valorização de elementos formadores da cultura como os ritos aos ancestrais e o resgate das línguas locais, proibidas durante o processo de colonização. Outra bandeira é a reorganização dos grupos étnicos dentro do continente para apaziguar os conflitos formados durante a colonização.

As diferenças sociais existentes no território de Moçambique impulsionaram as lutas anticoloniais. Os brancos, muitos de origem portuguesa, eram mais ricos e tinham mais instrução. Diversas políticas empregadas após a Segunda Guerra realçavam a disparidade e impediam o desenvolvimento da população negra. A criação da Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) foi importante para o surgimento da luta armada, sua estratégia era centrada na captura de pequenas áreas chamadas “zonas de liberdade”.
A luta chegou ao fim com a vitória do FRELIMO impulsionada pela Revolução dos Cravos que derrubou o regime de Salazar.
A06 y África: reinos africanos, colonialismo e resistência 435
Fonte: Wikimedia commons
Fonte: Wikimedia commons
Fonte: Wikimedia commons
Fonte: Wikimedia commons
Angola era a colônia portuguesa mais rica. Tinha forte presença europeia e era controlada sistematicamente, era o território com movimentos anti-imperialistas mais fracos. Diversos africanos eram explorados nas minas de diamantes e nos serviços urbanos. A política era controlada de perto por portugueses residentes em Angola e as manifestações contrárias fortemente reprimidas pela polícia de Salazar. Dessa forma, a interferência externa foi inevitável e os movimentos de independência ganharam contornos da Guerra Fria com o surgimento de três frentes: a FNLA com influência estadunidense, da África do Sul e da República do Zaire. A MPLA, apoiada pela URSS, e Zâmbia. Também existia a UNITA vinculada à China. As guerrilhas comandadas pelas frentes e com grande participação africana atuaram até à queda do salazarismo em Portugal. Embora a independência fosse conquistada em 1975, a atuação dos três grupos perdurou durante muitos anos influenciando em diversas guerras civis.
África: herança cultural brasileira

África: música
A civilização brasileira recebeu contribuições de muitos povos diferentes, na época da escravidão chegaram pessoas de diversas regiões da África, o Brasil foi invadido por uma imensa pluralidade cultural. Hoje, percebemos essas influências culturais em nossa língua, música, culinária e em outras inúmeras características que formam nossa sociedade. A influência e a integração de costumes africanos é tão grande que, muitas vezes, não percebemos a origem de diferentes aspectos sociais e culturais, pois já estão enraizados. Entender o Brasil é compreender a importância da África para o nosso país. Durante muitos anos, houve a valorização apenas das influências europeias e, ocasionalmente, da indígena, porém muitos pesquisadores e vários movimentos sociais lutaram para elucidar a importância dos diferentes povos africanos para nossa história. A desvalorização das influências africanas tem raízes na nossa história, pois até o século XIX as manifestações de origem africana eram proibidas. Durante o período colonial, muitos escravos praticavam sua religiosidade e preservavam seus costumes escondidos.

A música brasileira foi fortemente influenciada por ritmos africanos. Observamos essa característica em diversos estilos musicais como no samba, na congada e no maracatu, música e dança que surgiram a partir da festa de coroação e autos do rei do Congo. A festa africana que desenvolveu o maracatu (maracatu nação de Recife e maracatu virado de Pernambuco) era permitida durante o período colonial. As honras ao rei do Congo elegiam um rei e uma rainha celebrados durante a festividade. Essa festa era permitida pelos senhores de engenho e acredita-se que os portugueses tiveram contato com essa festa no continente africano quando conquistaram a região do Congo. Aos poucos, a festa tradicional se modificou e o maracatu surgiu como uma expressão afro-brasileira praticada e celebrada em diversos estados. O maracatu é mais expressivo na Região de Recife, onde surgiu, e em Pernambuco, a celebração conta com diversos personagens sendo o rei e a rainha os mais importantes. Fonte: Wikimedia commons
O samba é um traço fundamental da cultura afro-brasileira, o estilo musical é considerado uma das marcas do povo brasileiro, influenciou outros gêneros musicais como a bossa-nova e a MPB, é conhecido no mundo inteiro como uma marca da cultura brasileira. O estilo musical que hoje é considerado patrimônio cultural da humanidade pela UNESCO nasceu no Rio de Janeiro no século XX na casa de baianas emigradas para a capital. Inicialmente associado ao carnaval,

História 436 | PAS 2
Fonte: Wikimedia commons
Fonte: Wikimedia commons
os primeiros compositores criavam marchinhas e, aos poucos, o estilo se desenvolveu e deu origem ao samba-canção, contando com pandeiros, tambores, surdos, timbais e chocalhos. O termo samba é mais antigo que seu passado carioca e estava presente em muitos estados brasileiros. O nome samba geralmente se referia às diferentes músicas produzidas por escravos, e estava relacionado à religiosidade africana.
África: capoeira
A capoeira é uma expressão cultural afro-brasileira que acompanhou a história da escravidão negra no Brasil, jogo-dança é praticado em rodas com dois competidores ao som do berimbau. A presença africana no Brasil é marcada por períodos de dominação, perseguição e resistência, a capoeira sofreu com as duas primeiras características e se fortaleceu com a resistência. Estudiosos questionam suas origens em território brasileiro, pois ela era praticada escondida e existem poucas fontes do período colonial. Alguns pesquisadores afirmam que ela chegou ao Brasil com os escravos angolanos, representando uma celebração de maturidade masculina, e se uniu com outras expressões africanas e, possivelmente, com práticas indígenas. Outros dizem que sua origem é mais incerta e surgiu da junção de várias danças locais que foram transformadas em luta para garantir a sobrevivência. Era praticada nas matas baixas perto de engenhos e logo ganhou um caráter de resistência reafirmando a identidade cultural africana. Com a criação do Quilombo dos Palmares, a capacidade marcial dos movimentos praticados pelos escravos foi reforçada e a capoeira foi utilizada como defesa.

A capoeira chegou às cidades no final do século XIX com o aumento de alforriados que buscavam novas formas de trabalho. Após a abolição, a população de antigos escravos aumentou nas habitações urbanas, de modo que essas pessoas viviam à margem da sociedade e frequentemente enfrentavam a pobreza e o descaso do Governo. Nesse cenário, a capoeira foi retomada e ganhou imensa popularidade, pois era utilizada para afirmação da cultura africana e como manifestação da desobediência civil, e em 1890 foi proibida. Foi legalizada no Governo Vargas e pro -

movida a esporte oficial brasileiro. Nesse período, o pai da capoeira moderna, o mestre Bimba, transformou as antigas práticas na capoeira moderna, que é mais um jogo entre duas pessoas do que uma luta, o mestre foi responsável por apresentar a capoeira ao presidente Vargas.
África: religião
A umbanda e o candomblé são religiões com forte influência africana que estão presentes no território brasileiro, embora sejam as mais famosas não são as únicas religiões brasileiras que resgatam cultos da África. Assim como a capoeira, as religiões africanas enfrentaram longos períodos de proibição e preconceito e eram usadas como símbolo de resistência ao poder colonial que buscava implementar o cristianismo. Esse passado marcado por proibições foi responsável pelo imenso preconceito que os adeptos desses cultos ainda sofrem no território brasileiro.
Embora haja confusão entre a umbanda e o candomblé, é necessário salientar que são religiões diferentes com práticas e crenças próprias. O candomblé é uma religião de matiz africana que sofreu modificações em solo brasileiro, mas resgata antigas crenças trazidas pelos escravos. Uma particularidade do candomblé em relação às religiões praticadas em solo africano é o culto a vários orixás. As sociedades da África geralmente cultuavam uma entidade, mas durante a escravidão diferentes povos provenientes de inúmeras sociedades entraram em contato, dessa forma os escravos se uniam em torno de diversos orixás, era importante praticar a religião em grupo para manter a unidade e garantir a preservação cultural.
A umbanda é uma religião fundada no início do século XX por Zélio Fernandinho de Moraes e tem influência africana, porém é a única religião considerada tipicamente afro-brasileira, pois junto aos cultos africanos, ela miscigena práticas cristãs, indígenas e espíritas. O sincretismo típico da umbanda revela um traço importante da cultura brasileira – a miscigenação e a incorporação de diversas culturas para a criação de algo novo. Na umbanda, os orixás não são compreendidos como deuses, são espíritos que auxiliam os humanos. Hoje, a religião é dividida em diversas vertentes como a umbanda tradicional e a umbanda esotérica.
A06 y África: reinos africanos, colonialismo e resistência 437
Fonte: Wikimedia commons
Fonte: Wikimedia commons
EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO
01. A forma como as sociedades organizam as suas atividades produtivas se transforma ao longo do tempo e vem marcando mudanças históricas importantes.
Na transição do período Paleolítico para o período Neolítico, observam-se importantes mudanças na organização produtiva como, por exemplo
a) o término do sistema de plantation.
b) a formação das corporações de ofício.
c) a construção de núcleos urbanos feudais.
d) o início das grandes organizações sindicais.
e) o surgimento da agricultura de subsistência.
02. Em várias grutas pré-históricas, ricamente decoradas, foram encontradas pinturas retratando cenas de caça, ou animais como o cavalo e o bisão. Assim é a arte rupestre comumente feita sobre a pedra que pode também ser encontrada em incisões em ossos e madeira. As pinturas e as incisões rupestres surgiram no período
a) Glacial.
b) Paleolítico.
c) Mesolítico.
d) Neolítico.
03. Os nossos ancestrais dedicavam-se à caça, à pesca e à coleta de frutas e vegetais, garantindo sua subsistência, porque ainda não conheciam as práticas de agricultura e pecuária. Uma vez esgotados os alimentos, viam-se obrigados a transferir o acampamento para outro lugar.
HALL, P. P. Gestão ambiental São Paulo: Pearson, 2011 (adaptado). O texto refere-se ao movimento migratório denominado
a) sedentarismo.
b) transumância.
c) êxodo rural.
d) nomadismo.
e) pendularismo.
04. (uEFS BA) O expansionismo europeu sobre o Norte e o centro da África e sobre parte da Ásia, no decorrer do século XIX,
a) resultou do avanço do poder do mercado financeiro e caracterizou a postura imperialista dos povos africanos.
b) confirmou a supremacia britânica sobre os mares e revelou o declínio da influência norte-americana no continente africano.
c) ampliou o mercado consumidor para as manufaturas britânicas e francesas e freou o crescimento industrial dos países africanos.
d) facilitou a circulação marítima entre os Oceanos Atlântico e Pacífico e restabeleceu as rotas comerciais para o Oriente.
e) derivou da busca de matérias-primas e novas fontes de energia e enfrentou forte resistência dos povos locais.
05. (uFSC) As raças superiores têm um direito perante as raças inferiores. Há para elas um direito porque há um dever para elas. As raças superiores têm o dever de civilizar as inferiores [...]. Vós podeis negar; qualquer um pode negar que há mais justiça, mais ordem material e moral, mais equidade, mais virtudes sociais na África do Norte desde que a França a conquistou?
FERRY, J. Discurso ao parlamento francês em 28 de julho de 1885. In: MESGRAVIS. L. A colonização da África e da Ásia São Paulo: Atual, 1994, p. 14.
Sobre o Imperialismo e o Neocolonialismo no continente africano no século XIX, é correto afirmar que
01. os países europeus procuraram justificar a dominação de outros povos com base em uma interpretação equivocada das teorias de Charles Darwin, adotando o que se chamou de darwinismo social.
02. Leopoldo II, rei belga, constituiu uma sociedade privada comandada por ele para ocupar e administrar seus territórios na África. Isso se deu depois que o Parlamento da Bélgica não apoiou o desejo do rei de estabelecer um império colonial.
04. os europeus, por conhecerem pouco os recursos naturais e a geografia africana, sucumbiram muitas vezes na tentativa de ocupar o continente, o que explica terem levado quase todo o século XIX para consolidar seu projeto neocolonial.
08. estudos recentes têm levado em consideração o fato de que a resistência africana à invasão europeia no continente contribuiu para acelerar o processo de dominação através de intensas ações militares.
16. a Conferência de Berlim foi realizada na Alemanha, entre 1884 e 1885, com a presença de algumas lideranças de diferentes etnias africanas que concordavam com as ações das nações europeias.
32. muitas fronteiras foram criadas por meio de acordos diplomáticos entre os países europeus levando em consideração as divisões étnicas e culturais dos povos que ali viviam como estratégia para evitar possíveis conflitos entre os povos originários do continente.
06. (uCB DF) A partir de 1870, as potências europeias intensificaram a busca por mercados consumidores para as suas manufaturas e áreas produtoras de matérias-primas (cobre, borracha, ferro etc.) para suas indústrias. Além disso, buscavam também oportunidades de investimentos para seus capitais e suas colônias para acomodar o excedente populacional. Por isso, lançaram-se em uma disputa acirrada pela Ásia, África e Oceania. Essa corrida por colônias, no século 19, é chamada de imperialismo ou neocolonialismo.
BOULOS JÚNIOR, Alfredo. História, sociedade e cidadania: 3º ano. 1ª. ed. São Paulo: FTD, 2013, com adaptações. Acerca da política de dominação imperialista europeia, em diversas regiões do mundo, nos séculos 19 e 20, assinale a alternativa correta.
a) Um dos efeitos do imperialismo em sua versão neocolonialista, na Ásia, foi a ocupação e a exploração do Japão nas últimas décadas do século 19.
b) O imperialismo apoiava-se em uma pseudociência, segundo a qual a raça branca (europeia) era superior às demais, o que justificava a dominação de outros povos na África, na Ásia, na América e na Oceania.
c) O processo neocolonialista na África não ultrapassou estreita faixa litorânea. As regiões interiores do continente não foram alcançadas pelas políticas de dominação europeia.
d) O processo neocolonialista não poupou vários países da América do Sul, que permaneceram subordinados à Espanha e a Portugal até meados do século 20.
e) Em algumas regiões da Ásia, como a Índia e a China, os efeitos do imperialismo traduziram-se em profundas alterações culturais, sobretudo linguística, quando as áreas coloniais adotaram oficialmente o idioma das metrópoles europeias.
História 438 | PAS 2
07. (unipas PB) O processo de descolonização afro-asiática, ocorrido após a Segunda Guerra Mundial, resultou na emergência de um grande número de países recém-libertados, que formaram o bloco do Terceiro Mundo.
Sobre esses países, é correto afirmar que eles
01. se uniram ao bloco socialista com o apoio da China.
02. desenvolveram uma política externa baseada no imperialismo e na corrida armamentista.
03. exportaram para os países industrializados do hemisfério norte matérias-primas, minérios e produtos tropicais a baixos preços.
04. dominaram o comércio internacional, exportando produtos industrializados para os países do hemisfério sul.
05. desenvolveram tecnologia própria, o que contribuiu para um crescimento industrial independente do capital europeu.
08. (Fac. Direito de Sorocaba SP) Leia os textos.
A primeira coisa, portanto, é dizer-vos a vós mesmos: Não aceitarei mais o papel de escravo. Não obedecerei às ordens como tais, mas desobedecerei quando estiverem em conflito com a minha consciência. (…) Isso poderá implicar sofrimentos. Vossa prontidão em sofrer acenderá a tocha da liberdade que não pode jamais ser apagada.
(Mahatma Gandhi)
É preciso afirmar publicamente a vontade da França de não deixar tocar a sua soberania francesa na Argélia. É preciso tomar as medidas necessárias para reprimir todos os comportamentos antifranceses por parte de uma minoria de agitadores. É preciso afirmar que a França confia nas massas francesas muçulmanas da Argélia.
(Charles de Gaulle)(Apud Carlos Serrano e Kabengele Munanga, A Revolta dos Colonizados)
A partir de seus conhecimentos e das afirmações, é correto afirmar que o processo de independência das colônias na Ásia e na África
a) apresentou tanto a via pacífica quanto a violenta, dependendo das relações coloniais.
b) revelou o apoio dos países não alinhados à libertação dos povos oprimidos.
c) caracterizou-se pelo nacionalismo exacerbado, com teor anti-imperialista e racista.
d) vinculou-se diretamente aos interesses das superpotências no fim da Guerra Fria.
e) expressou o descontentamento das elites europeias com os rumos da globalização.
09. “O Centro Espírita Caboclo Pena Branca foi alvo de intolerância religiosa na madrugada de hoje (8), em Nova Iguaçu (RJ), na Baixada Fluminense. O terreiro de candomblé foi totalmente destruído pela ação de vândalos, que atearam fogo nas instalações, depredaram os orixás e deixaram palavras pichadas nas paredes, como “Não queremos macumba aqui” e “Fora macumbeiros.”
Douglas Corrêa http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-05/vandalos-incendeiam-terreiro-de-candomble-na-baixada-fluminense
Notícias como a apresentada acima são comuns, constantemente terreiros de matriz africana são atacados. Qual motivo não explica os vandalismos a casas de candomblé:
a) O preconceito ligado às práticas tradicionalmente africanas.
b) A “macumba”
c) O preconceito religioso.
d) O descaso com a história da África e com suas contribuições para o Brasil.
e) O racismo.
10. Ouviu-se falar de capoeira pela primeira vez, durante as invasões holandesas de 1624, quando os escravos e índios, (as duas primeiras vítimas da colonização), aproveitando-se da confusão gerada, fugiram para as matas. Os negros criaram os Quilombos, entre os quais o mais famoso Palmares, cujo líder foi Zumbi, guerreiro e estrategista invencível diz a lenda, diz ter sido capoeira. Após esta época, houve um período obscuro e no renascimento do século XIX, transformou-se em um fenômeno social, que tomou conta de centros urbanos como o Rio de Janeiro, Salvador e Recife.
As maltas de capoeiristas inquietavam os cidadãos pacatos do Rio de Janeiro, e se tornavam um problema para os vice-reis.
Mestre Burguês. http://muzenza.com.br/site/historia/
Sobre a capoeira é correto afirmar:
a) A capoeira foi um movimento de resistência apenas no seu início.
b) A capoeira inquietava os cidadãos, porém nunca foi proibida.
c) A capoeira moderna é igual a praticada pelos antigos escravos.
d) A história da capoeira é ligada a história dos quilombos.
e) No século XIX a capoeira era utilizada apenas como um movimento de desobediência civil.
11. “Em seus livros, o senhor destaca o equívoco que é resumir a relação entre Brasil e África ao comércio de escravos.
Reducionismo absurdo. Os africanos trouxeram para o Brasil bens, instrumentos, técnicas de mineração, técnicas de criação extensiva de gado, vegetais, uma infinidade de elementos. Temos a tendência perversa de falar apenas em “escravo”. Não falamos em banto, fon, ioruba ou congo. Não falamos da contribuição que essas culturas deram ao Brasil. O que se estabeleceu aqui foi um diálogo de culturas, um quadro extremamente complexo...
Mas o senhor falou em reforço de estereótipos.
Vários livros didáticos insistem em apresentar o africano no Brasil como o escravo oprimido, o quilombola resistente ou a mão de obra submetida a todo tipo de exploração. É tristeza, dor, sofrimento de um lado; do outro, é festa, cantoria, dança, alegria exagerada. Os opostos formam um estereótipo cristalizado no imaginário popular. É muito pouco. Onde está a contribuição dada pelo africano para o desenvolvimento da criação extensiva de gado no Brasil?...”
Entrevista com o pesquisador Alberto da Costa e Silva. http://www.revistahcsm.coc.fiocruz.br/a-historia-da-africa-e-vista-com-preconceito/ De acordo com o texto podemos concluir que:
a) Os brasileiros precisam estudar mais a história da escravidão.
b) Os escravos eram uma mão de obra barata sem qualificação.
c) Os escravos trouxeram a erudição africana, mas essa se perdeu durante a escravidão.
d) Apresentar as festas, cantorias e danças é um contraponto benéfico à tristeza, dor e sofrimento da escravidão.
e) A relação do Brasil e África ia além da escravidão.
A06 y África: reinos africanos, colonialismo e resistência 439
W A TRANSFERÊNCIA DA CORTE PORTUGUESA PARA O BRASIL
Na primeira década do século XIX, os exércitos de Napoleão varreram a Europa em nome dos ideais democráticos da Revolução Francesa. Decidido a dominar a Europa, Bonaparte dividiu o continente em aliados e inimigos da França. Essa divisão foi levada ao extremo, em 1806, com a decretação do Bloqueio Continental, por meio do qual pretendia sufocar economicamente a Inglaterra, o seu principal adversário.
Aliado do império britânico, Portugal viu-se em meio a um grave conflito internacional. Não podia virar as costas para a Inglaterra e nem afrontar o bloqueio continental. Assim, depois de algumas vacilações, as pressões inglesas, levaram o governo português a decidir-se pela transferência para o Brasil. A 27 de novembro de 1807, nobres, magistrados, altos funcionários, oficiais, padres e comerciantes, além da família real, embarcaram com destino ao Rio de Janeiro.
Principais medidas de D. João VI no Brasil
Chegando ao Brasil, a Corte se instalou no Rio de Janeiro. Em 11 de março de 1808 iniciou-se a reorganização do Estado, com a nomeação dos ministros. Assim, foram sendo recriados, na colônia, todos os órgãos do Estado português: ministros do Reino, da Marinha e Ultramar, da Guerra e Estrangeiros e o Real Erário, que, mudou de nome para Ministério da Fazenda. Também foram recriados os órgãos da administração e da justiça: Conselho de Estado, Desembargo do Paço, Mesa da Consciência e Ordens, Conselho Supremo Militar. Dessa maneira, peça por peça, o Estado português renasceu no Brasil.
A Inglaterra foi a maior interessada na transferência da Corte portuguesa para o Brasil, por isso pressionou D.João a acabar com o monopólio comercial junto à colônia brasileira. E assim, em 1808, o príncipe regente decretou a Abertura dos Portos às “nações amigas”. Com essa medida, o pacto colonial brasileiro chegava ao fim, os comerciantes da colônia ganhavam liberdade, e o Brasil começava a se emancipar de Portugal.
Sem dúvidas, a ilha britânica foi a maior beneficiada pela abertura dos portos, pois os brasileiros passaram a ser os compradores em potencial dos produtos ingleses, devido às facilidades de importação. Entretanto, as vantagens para a Inglaterra não pararam por aqui, uma quantidade ainda maior de manufaturados inundaram o mercado brasileiro: sapatos, botas, tecidos, luvas, guarda-chuva e até caixões. Isso porque com a assinatura do Tratado de Comércio e Navegação de 1810, as taxas alfandegárias sobre os produtos ingleses vendidos no Brasil seriam fixadas em apenas 15%, enquanto que dos demais países as taxas eram de 24%, e até mesmo Portugal pagava 16%. Mesmo D. João tendo suspendido a proibição, que impedia a atividade industrial na colônia brasileira, o tratado de 1810 prejudicou e muito o desenvolvimento da manufatura nacional, uma vez que era impossível concorrer com importados ingleses tão baratos e de melhor qualidade.
Com o fim do exclusivismo colonial, uma nova forma de dependência se estabeleceu, manifestando-se no déficit permanente da balança comercial externa. As exportações brasileiras não cresciam na mesma proporção, nem tão rapidamente quanto era necessário para acompanhar as importações.
Além de organizar a estrutura administrativa da monarquia portuguesa no Brasil, criaram-se o Banco do Brasil e a Casa da Moeda. Além disso, foram criados também o Jardim Botânico, as escolas de medicina da Bahia e do Rio de Janeiro, o Teatro Real, a imprensa Real, a Academia Militar, a Academia Real de Belas-Artes, a Biblioteca Real. Isso propiciou a vinda da missão artística francesa, que retratou paisagens e costumes brasileiros, tanto dos sertões quanto da Corte no Rio de Janeiro, cujo principal representante foi o pintor Jean-Baptiste Debret.
440 FRENTE HISTÓRIA
MÓDULO 07 A PAS 2
TEIXEIRA, Francisco. Brasil história e Sociedade; página139-140.
TREINAMENTO PAS PROVA ITENS 2007 2008 2009 66 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 54 2020 2021
Em 1815, o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves, ou seja, a colônia passava agora a ser a sede do Reino Unido e consequentemente havia adquirido autonomia política. D. João foi obrigado a tomar tal atitude porque na Europa vigorava o Congresso de Viena, que baseado em dois princípios, o da Restauração e o da Legitimidade, estabelecia a partilha dos territórios europeus de maneira equilibrada e o retorno ao poder de antigos monarcas depostos durante a Revolução Francesa. Assim, para que D. João pudesse reassumir o controle de Portugal, uma vez que esta era a sede do reino, ele teve que transformar sua colônia em parte, e principalmente em sede, do seu reino. A estratégia traçada tinha a intenção de retardar a volta do monarca português para o seu país, pois pretendia assim, evitar os movimentos emancipadores na colônia. Porém, tal medida desagradou e muito os súditos portugueses, que não tardaram em fazer a Revolução do Porto.

Quanto à política externa, D. João declarou guerra à França e invadiu a Guiana Francesa, em 1809. Aproveitando-se das guerras de independência iniciadas na América Espanhola, invadiu o Sul do Rio Grande do Sul, transformando-o na Província da Cisplatina (atual Uruguai).
A Revolução do Porto
Em 1815, Napoleão é derrotado definitivamente, e gradativamente, graças ao apoio inglês, os portugueses conseguiram expulsar as tropas napoleônicas do seu país, mas as condições econômicas em que se encontravam não eram nada boas. Essa situação se agravava, em meio à difusão das ideias iluministas e assim eclodiu uma revolução liberal na cidade do Porto, em 1820.
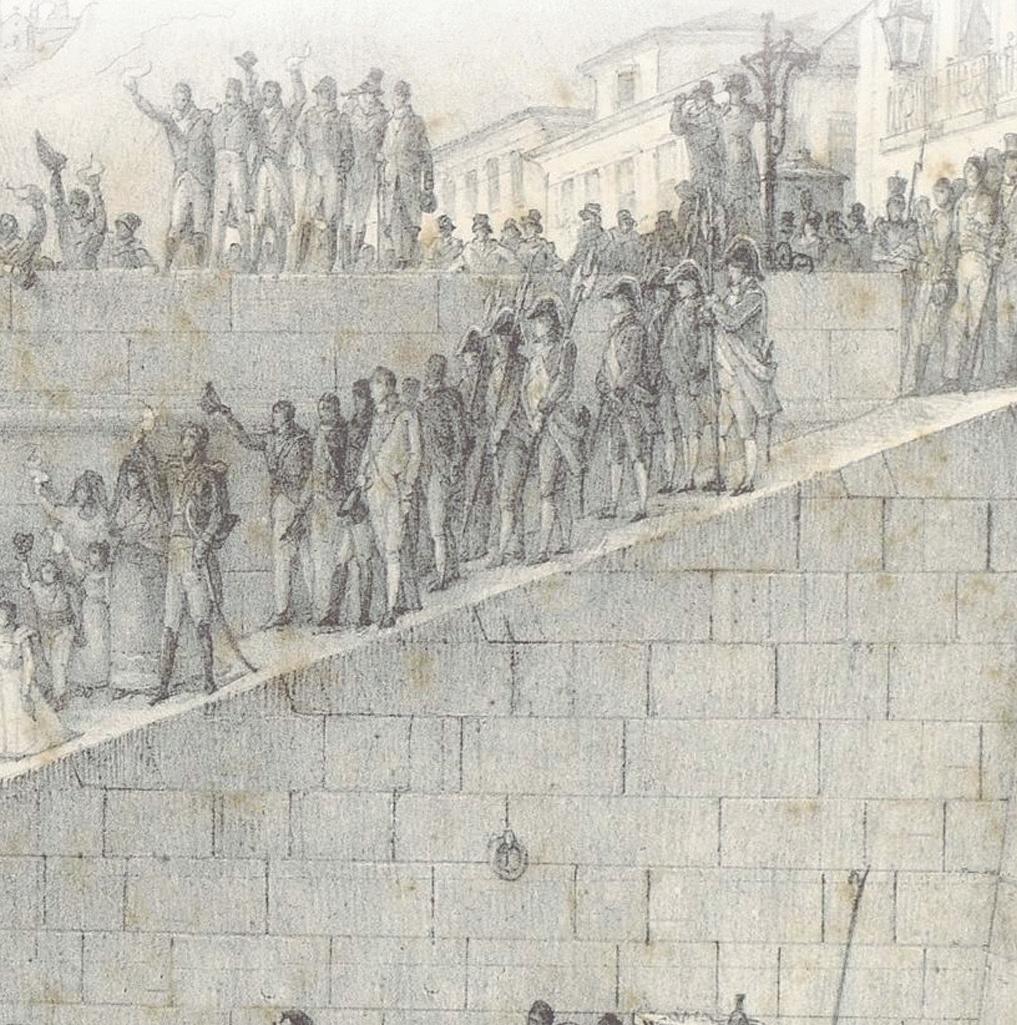
A rebelião foi liderada por comerciantes portugueses, mas encontrou apoio em diversos setores da sociedade, tais como: camponeses, funcionários públicos, militares e profissionais liberais.
Seus líderes decidiram redigir uma constituição para Portugal a partir da convocação das Cortes portuguesas. Ao mesmo tempo, exigiram o afastamento de Beresford (comandante militar inglês que controlava o país no momento) e o retorno imediato do imperador D. João VI. Isso represen-
tava o fim do absolutismo em Portugal. O país passava a ser controlado pelas Cortes de Lisboa, uma assembleia que representava os interesses da burguesia portuguesa, cujos objetivos giravam em torno da recuperação econômica do reino, abalada pelas guerras contra Napoleão e também pela perda do controle sobre o Brasil. Se por um lado defendiam o liberalismo em Portugal, reformulando as estruturas políticas, por outro lado, o plano das Cortes era promover a recolonização do Brasil, restituindo, portanto, antigos privilégios comerciais aos burgueses portugueses, restabelecendo o pacto colonial. Com receio de perder a coroa, passada para suas mãos após a morte de sua mãe, D. Maria I, o monarca português, família e Corte retornaram para Portugal em 1821, deixando seu filho D. Pedro I como príncipe regente no Brasil.
O Brasil e as cortes

A elite brasileira, formada por grandes proprietários de terras e escravos, via a possibilidade de ser prejudicada em seus interesses econômicos, devido às atitudes tomadas pela Corte portuguesa, desejava afastar completamente a ideia de recolonização, pois isso implicaria a perda de liberdade comercial e administrativa já conquistada. Organizou-se, então, o Partido Brasileiro, reunindo homens de variadas influências políticas, tais como: José Bonifácio, Cipriano Barata, Gonçalves Ledo, todos com a finalidade de apoiar D. Pedro contra as ordens das Cortes de Lisboa.


A primeira grande vitória do partido brasileiro veio quando após ter recebido ordens de Portugal para retornar, D. Pedro decidiu desobedecer e permanecer no Brasil. Ao receber, no dia 9 de janeiro de 1822, o documento que pedia sua permanência, D. Pedro declarou solene: “Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto: diga ao povo que fico".
Após esse episódio, D. Pedro, aconselhado por José Bonifácio, comunicou que as ordens de Lisboa só seriam executadas, caso ele ordenasse.
Como as Cortes portuguesas continuavam objetivando submeter a autoridade de D. Pedro aos seus interesses, a reação política brasileira a essas medidas culminou na ruptura. Assim, no dia 7 de Setembro de 1822, em São Paulo, foi proclamada a Independência do Brasil.
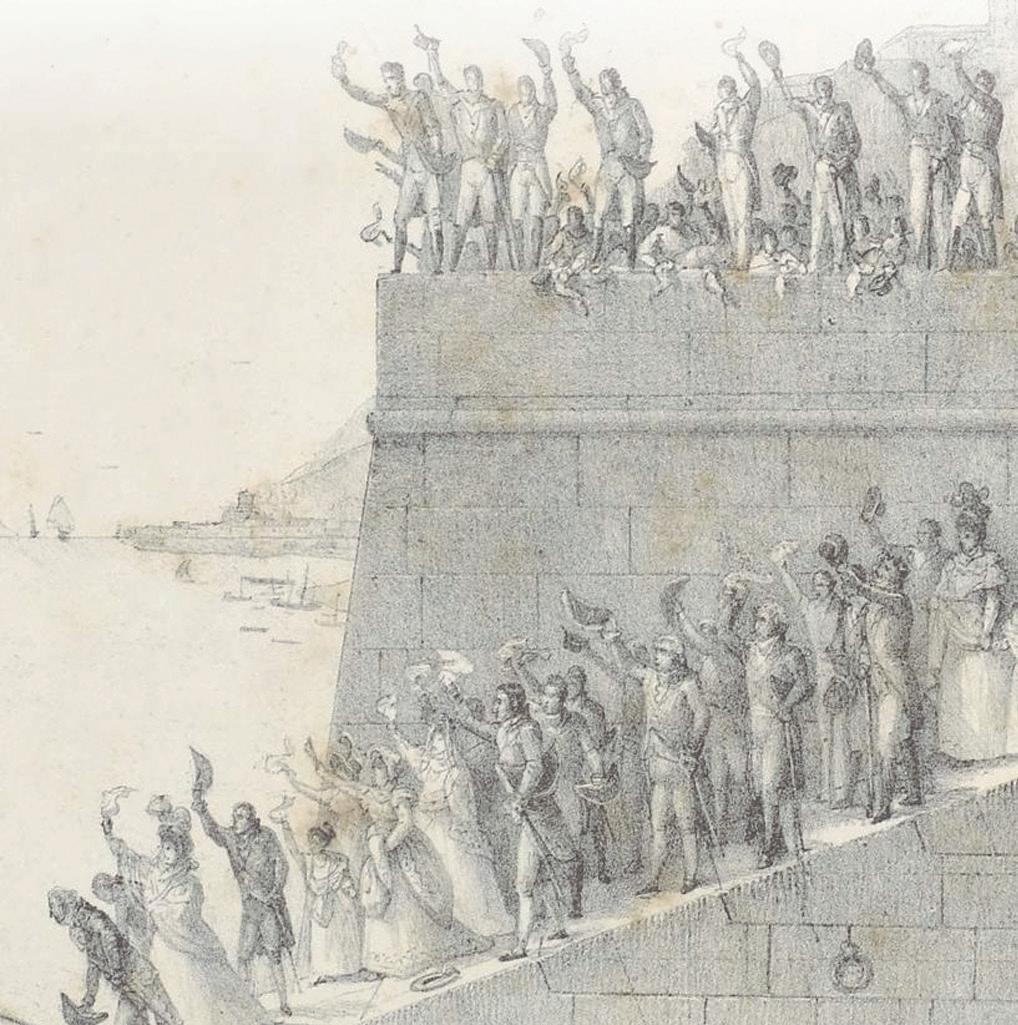
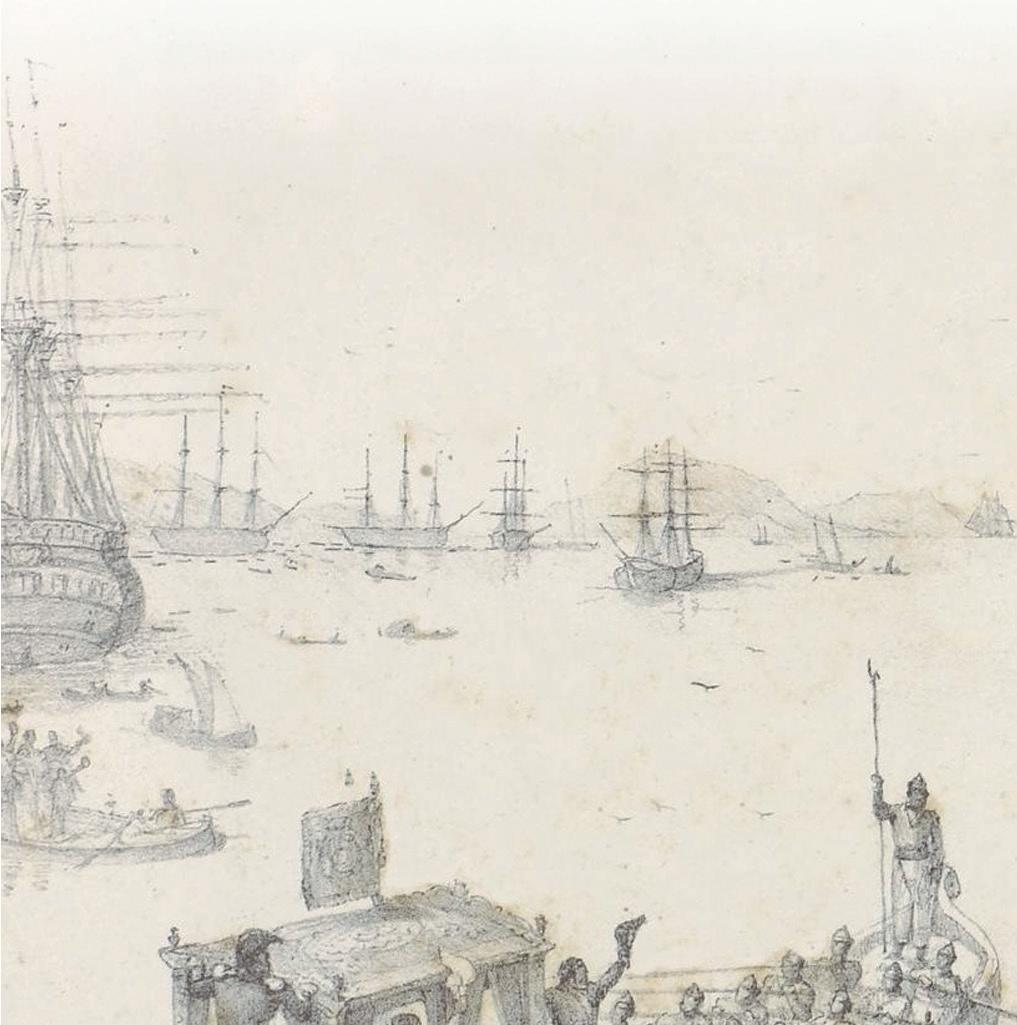
A07 y A transferência da Corte portuguesa para o Brasil 441 Fonte: Wikimedia commons
441
EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO
01. (uCB DF) O bloqueio continental imposto pela França e as relações entre Portugal e Inglaterra foram fundamentais para a transferência da Corte portuguesa ao Brasil em 1808, fazendo do Rio de Janeiro a nova sede da coroa. A chegada da Corte e a instalação das instituições políticas, administrativas e jurídicas do governo português no Rio de Janeiro acarretaram diversas mudanças na colônia. Essas mudanças deram início a um processo que resultou na independência do Brasil.
PELLEGRINI, Marco Cesar; DIAS, Adriana Machado; GRINBERG, Keila. Contato história, 2o ano. 1a. ed. São Paulo: Quinteto Editorial, 2016, com adaptações.
A respeito das mudanças que conduziram o Brasil ao processo de independência, assinale a alternativa correta.
a) Com a chegada da família real e da Corte portuguesa ao Brasil em 1808, Portugal foi relegado à condição de colônia.
b) Assim que desembarcou no Brasil em 1808, D. João assinou o decreto que definiu o Pacto Colonial, dando a Portugal exclusividade sobre o comércio colonial brasileiro.
c) A elevação do Brasil à condição de Reino Unido a Portugal, em 1815, seguiu a orientação do Congresso de Viena na manutenção do absolutismo monárquico e, ao mesmo tempo, contribuiu para o processo de independência do País.
d) Com o retorno de D. João e sua Corte para Portugal, em abril de 1821, o Brasil retorna à condição de colônia de Portugal.
e) O partido político denominado “partido brasileiro”, formado por proprietários rurais, liberais radicais e republicanos, apoiava a separação de Portugal e defendia a fragmentação do território brasileiro e a criação de vários estados independentes.
02. (unirg TO) “...sobre se achar interrompido e suspenso o comércio desta capitania com grave prejuízo dos meus vassalos, e da minha Real Fazenda, em razão das críticas e públicas circunstâncias da Europa, e querendo dar sobre este importante objeto alguma providência pronta, capaz de melhorar o progresso de tais danos, sou servido ordenar interina e provisoriamente, enquanto não consolido um sistema geral que efetivamente regule semelhantes matérias, o seguinte: primeiro, que sejam admissíveis nas Alfândegas do Brasil todos e quaisquer gêneros, fazendas, e mercadorias transportadas, ou em navios estrangeiros das potências que se conservam em paz e harmonia com a minha Real Coroa, ou em navios dos meus vassalos [...]; Segundo: Que não só os meus vassalos, mas também os sobreditos estrangeiros possam exportar para os portos que bem lhes parecer, a benefício do comércio e da agricultura, que tanto desejo promover, todos e quaisquer gêneros e produções coloniais...”
Disponível em http://www.historia.seed.pr.gov.br/arquivos/File/fontes%20 historicas/abertura_portos_1808.pdf.Acesso em: 4 out. 2017. Adaptado.
Desse modo, Dom João VI realizou a “abertura dos portos às nações amigas”, ainda na primeira semana de sua estadia no Brasil. Acerca das “críticas e públicas circunstâncias da Europa”, afirmadas no documento, avalie as afirmações a seguir:
I. O texto se refere às conquistas napoleônicas e à invasão da Península Ibérica, que acabaram por ocasionar a transferência da Corte lusitana para a colônia brasileira.
II. O texto se refere aos problemas gerados pelo “Bloqueio Continental”, que alterou as relações comerciais e políticas de vários países com a monarquia britânica.
III. O texto se refere às campanhas militares da Alemanha que, ao adentrar com relativo atraso nas conquistas coloniais,
gerou o desequilíbrio das forças geopolíticas europeias e a viagem do príncipe-regente Dom Joao VI ao Brasil.
IV. O texto se refere às consequências desastrosas da Revolução Industrial, que incluíam o trabalho operário com jornadas de quase vinte horas, o emprego de mulheres e de crianças, sem legislação que as protegesse.
Assinale a alternativa que indica os itens que contêm somente assertivas corretas:
a) I e II.
b) II e III.
c) II e IV.
d) I e IV.
03. (uEFS BA) Do ponto de vista econômico, a concessão mais onerosa para os interesses da colônia foi a tarifa de 15% ad valorem a ser cobrada sobre as mercadorias inglesas entradas nos portos brasileiros, em navios ingleses ou portugueses [...]. Situação agravada pelo fato de a Carta de Abertura dos portos fixar a taxa de 16% ad valorem para os navios portugueses e 24% para todas as demais nações.
(José Jobson de Andrade Arruda Uma colônia entre dois impérios, 2008.)
O excerto refere-se aos tratados de 1810 assinados entre os governos português e inglês, que tiveram como uma de suas consequências
a) o estímulo ao desenvolvimento das manufaturas no Brasil.
b) o fortalecimento do controle metropolitano sobre o comércio colonial.
c) a ligação das atividades econômicas coloniais com uma economia industrial.
d) a crise das exportações de produtos primários do Brasil para a Europa.
e) a adoção no conjunto do Império português da política do livre-cambismo.
04. (Fuvest SP) Na edição de julho de 1818 do Correio Braziliense, o jornalista Hipólito José da Costa, residente em Londres, publicou a seguinte avaliação sobre os dilemas então enfrentados pelo Império português na América:
A presença de S.M. [Sua Majestade Imperial] no Brasil lhe dará ocasião para ter mais ou menos influência naqueles acontecimentos; a independência em que el-rei ali se acha das intrigas europeias o deixa em liberdade para decidir-se nas ocorrências, segundo melhor convier a seus interesses. Se volta para Lisboa, antes daquela crise se decidir, não poderá tomar parte nos arranjamentos que a nova ordem de coisas deve ocasionar na América.
Nesse excerto, o autor referia-se
a) aos desdobramentos da Revolução Pernambucana do ano anterior, que ameaçara o domínio português sobre o centro-sul do Brasil.
b) às demandas da Revolução Constitucionalista do Porto, exigindo a volta imediata do monarca a Portugal.
c) à posição de independência de D. João VI em relação às pressões da Santa Aliança para que interviesse nas guerras do rio da Prata.
d) às implicações que os movimentos de independência na América espanhola traziam para a dominação portuguesa no Brasil.
e) ao projeto de D. João VI para que seu filho D. Pedro se tornasse imperador do Brasil independente.
História 442 | PAS 2
W INDEPENDÊNCIA DO BRASIL
Entendemos a Independência como um processo por acreditar que a situação da Colônia não tenha se modificado apenas em 1822, como um evento histórico, nem estivesse já previamente desenhada nos anos que a antecederam. Vários acontecimentos foram fundamentais para que o Brasil se constituísse como nação.



A transferência da Corte, a disseminação de novas ideias por meio da imprensa, a busca pela conquista do espaço público por camadas sociais que não ocupavam cargos governamentais, bem como revoltas regionais que buscavam afirmar identidades próprias, até a Revolução do Porto em 1820 - todos esses fatos foram essenciais para a emergência de um projeto de Estado-Nação. Outro fenômeno relevante no processo de Independência consiste nas transformações da economia colonial antes e após a vinda da Corte. Se antes os negociantes não se viam fortes economicamente para concorrer com os comerciantes ingleses, “a instalação da família real no Rio de Janeiro coroaria tal empreendimento, à medida que a alteração da sede do poder imperial se traduziria numa série de medidas que buscavam fortalecer tanto econômica como estrategicamente o novo continente”. Como marcos do processo de Independência, adotamos 1808, ano em que a Família Real e sua Corte aportaram em solo brasileiro, e 1822, momento em que ocorre uma formalização jurídica da decisão tomada pelo Príncipe Regente D. Pedro I ao declarar a Independência do Brasil.

PAS


FRENTE HISTÓRIA MÓDULO 08 A PAS 2
Figura 01 - Monumento à Independência do Brasil no Parque da Independência do Ipiranga- São Paulo, Brasil.
PrOVa iTENS 2007 2008 2009 2010 2011 25 2012 2013 2014 11-12 2015 2016 27 2017 2018 2019 2020 2021
TREINAMENTO
A Revolução Francesa e os subsequentes acontecimentos políticos provocaram um alinhamento dos países europeus em torno da disputa entre os ideais personificados em Napoleão e aqueles reunidos em torno da Grã-Bretanha. As sucessivas campanhas napoleônicas e a intervenção em governos monárquicos ameaçavam Portugal, que tentou manter sua neutralidade até o último instante. Seu apoio a Grã-Bretanha só foi definido em 1807, assim como seus portos fechados a outras nações.
Nesse momento, a Espanha já havia declarado apoio à França, e posteriormente cederia espaço para que as tropas francesas tentassem invadir Portugal por seus territórios. Portugal seguia uma vertente de pensamento baseada em ideais monárquicos, chamado de reformismo ilustrado e o Estado buscava reformar sua administração e ampliar os poderes reais. A situação vivida por Portugal, entre o século XVIII e o XIX, levou a uma decisão vista como última opção para o país, que foi a transferência da Corte portuguesa para sua colônia americana, o Brasil, muito embora a situação já houvesse sido discutida ainda no século XVI, como proposta de recentralizar o império português no Novo Mundo.
A mudança da Corte garantiria a continuidade do poder absolutista de D. João, ameaçado por uma Europa que embora possuísse muitos países monarquistas, iniciava sua industrialização e reduzia o poder dos reis por meio de uma monarquia constitucional.
A vinda da Corte e a abertura dos portos às nações amigas além de favorecer a continuidade da monarquia absolutista portuguesa, também favoreceu a Grã-Bretanha. Pode-se verificar a importância das relações comerciais com a colônia brasileira posteriormente avaliando os tratados a parti r de 1810:
(...) em fevereiro de 1810 foram estabelecidos dois tratados entre as Cortes do Rio de Janeiro e Londres: um de comércio, o outro de aliança e amizade. Em linhas gerais, entre as várias estipulações firmadas, facilitava-se a atividade mercantil britânica no Brasil, com benefícios por vezes até maiores do que os reservados aos próprios comerciantes portugueses. Em 1808, desembarcou no Brasil a Família Real e parte de sua Corte, transfigurando toda cidade do Rio de Janeiro e demais localidades da Colônia.
Com certeza, o espaço social da capitania do Rio de Janeiro, por ter recebido cerca de 15 mil pessoas em um espaço não preparado para tamanha modificação, foi atingido: Sem dúvida, as mais visíveis alterações decorrentes da transferência da Família Real para o Brasil foram sentidas pelos habitantes do Rio de Janeiro, cidade que, de repente, teve que criar condições de sediar o Império. A historiografia costuma apontar, com alguma imprecisão, um novo contingente populacional a variar entre 10 a 15 mil habitantes
que, constituído pela Família Real, seus criados e toda a alta burocracia portuguesa, com seus muitos funcionários médios, passou a engrossar os cerca de 45 mil até então nela residentes. A chegada da Corte portuguesa a sua Colônia americana acarretou inúmeras modificações socioestruturais, muito embora os primeiros e maiores impactos estivessem relacionados à estrutura social, e à capitania do Rio de Janeiro. As transformações se expandiram aos âmbitos do político, econômico e por todo o território colonial. Tais modificações contribuíram enormemente para a consolidação do Estado Nacional Brasileiro.
Entre as capitanias que sofreram impactos imediatos, podemos destacar a de Minas Gerais, que desde o período colonial brasileiro mantinha uma intensa produção de gêneros de primeira necessidade, funcionando como entreposto comercial com outras localidades, como o Rio de Janeiro. Pesquisadores já afirmaram que a região do Sul de Minas e São Paulo tinham capacidade de concorrência com negociantes fluminenses na praça carioca. A decadência da mineração havia produzido em algumas regiões da capitania uma precoce atividade produtiva voltada para o abastecimento interno, o que justifica a existência de um dos maiores plantéis de escravos do país, mesmo após o declínio das atividades mineratórias. Com vantagens devido a sua localização geográfica, com divisa ao Sul com São Paulo e Rio de Janeiro e acesso aos caminhos abertos para exploração, a Comarca do Rio das Mortes obteve destaque como responsável pela comercialização com as capitanias vizinhas, com o abastecimento do Sul de Minas, bem como entreposto comercial de outras vilas de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso.
Desde 1782 a Comarca do Rio das Mortes, especificamente São João Del Rei, recebeu instruções para seu governo e foi referenciada como a mais vistosa, e a mais abundante de toda a Capitania em produção de grãos, hortaliças, e frutos ordinários do País, de forma que além da própria sustentação, provê a toda a Capitania de queijos, gados, carnes de porco.
A abertura dos portos do Brasil em 1808 intensificou o comércio com os britânicos e desviou os comerciantes portugueses para o comércio de cabotagem no litoral. O fato cooperou para o progresso do comerciante do interior, e induziu a crescente produção e comercialização em Minas Gerais. Muito embora mercadores fluminenses também lutassem pelo controle dos negócios no interior da Corte, os proprietários do Sul de Minas conquistaram seu espaço, sendo auxiliados pelas alterações de impostos sobre a circulação de mercadorias, facilitados devido à alta necessidade de fornecimento de gêneros alimentícios.
História 444 | PAS 2
Tal situação foi confirmada pelo viajante Saint-Hilaire em sua viagem pela província em 1822, quando fala das rotas de comércio e faz referência aos caminhos da Comarca do Rio das Mortes: “como esta estrada é a mais curta para toda a comarca de São João, por aqui passa grande parte dos bois e porcos que o distrito fornece ao Rio de Janeiro.”

A elite política local sempre governou com certa autonomia e “(...) as próprias autoridades barganhavam com os contratantes”, cumprindo suas funções visando, muitas vezes, aos seus próprios interesses. Portanto, concentrar nossas pesquisas na Câmara Municipal de São João Del Rei constituiu uma necessidade para a análise da atuação da elite política sanjoanense no que concerne à sua participação no processo de Independência, e ainda porque, como bem afirmou Wlamir Silva, as Câmaras Municipais, ‘instituições preexistentes’, foram o principal veículo de articulação política deste momento, e, sobretudo, o mais visível pelo historiador (...) uma vez que a circulação de ideias e propostas se fazia por meio de cartas, panfletos e contatos pessoais, todas formas praticamente inalcançáveis para o historiador no âmbito desta província.
Embora existam pesquisas que analisem as modificações ocorridas nas regiões de Minas Gerais após 1808, pode-se considerar como parca a historiografia no que tange às imediatas transformações e reações ocorridas na capitania de Minas Gerais frente aos acontecimentos da Corte. Da mesma forma, a atuação das elites mineiras durante o processo de Independência, torna relevante que sejam desenvolvidos estudos dessa natureza concentrados, sobretudo, em regiões como a Comarca do Rio das Mortes, cuja Vila de São João Del Rei, cabeça da comarca, passa a ser um centro de destaque econômico.
A Comarca tem seu Alvará datado de 6 de abril de 1714 quando foi dividida em três comarcas: a de Vila Rica (Ouro Preto), Vila Real do Sabará (Rio das Velhas) e Rio das Mortes (São João Del Rei). As comarcas possuíam termos, e cada termo um município. No distrito mais importante desse termo, o chamado “cabeça” de comarca era instalada a Câmara Municipal, responsável pelos demais municípios. Até o ano de 1718, a Câmara Municipal de São João Del Rei teve sob sua jurisdição toda a Comarca do Rio das Mortes, quando foi instalada a Câmara da Vila de São José Del Rei (atual Tiradentes) e passou a administrar quase a metade do território.
As Câmaras Municipais tinham como uma de suas funções a cobrança de impostos sobre os alimentos que eram comercializados entre e nas capitanias, cobrança que se tornou mais rígida devido à maior necessidade de abastecimento de gêneros alimentícios na nova sede da Corte. Como exemplo, podemos citar a mudança das funções do cargo de almotacé. Este, durante o período colonial, era responsável pela fiscalização da limpeza das ruas, cobrança de impostos e várias outras obrigações.
A Independência brasileira constituiu um dos principais acontecimentos para a História do Brasil no que condiz à formação e consolidação de seu Estado. Entender os fatores que cooperaram para sua ocorrência, ter conhecimentos dos agentes atuantes nesse contexto, assim como conhecer as principais discussões que a historiografia já realizou sobre o tema torna-se relevante para entender o processo sob um amplo panorama.
Nesse sentido, instituições políticas atreladas ao governo, como as Câmaras Municipais, foram palco de discussões sobre o novo sistema atribuído ao Brasil. As decisões tangiam desde a insatisfação pela criação de novos órgãos e sua atuação, como as Juntas Governativas, até mesmo especificidades como a manutenção do ciclo econômico existente entre a capitania de Minas Gerias e o Rio de Janeiro.
Portanto, analisar a atuação camarária em regiões que sabemos ter atuado no e que estiveram durante todo o processo de Independência atrelados à Corte consiste numa importante contribuição para o entendimento de como se deu a dinâmica política, econômica e social nessas localidades. Fatores relevantes para a formação e consolidação do Estado Nacional brasileiro.
A08 y Independência do Brasil 445
Figura 02 - Botânico, naturalista e viajante francês Saint Hilaire.
EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO
01. (unB DF) Leia o texto que segue. “A emancipação da colônia e o consequente bloqueio de grande parte dos auxílios do governo aniquilou alguns núcleos italianos. Assim ocorreu em Porto Franco e Lajeado Alto, que não dispunham de estradas. Teria bastado uma estrada para promover seu desenvolvimento.”
Renzo Maria Grosseli, Vencer ou morrer Com base no assunto do texto acima, julgue os itens que se seguem.
01. Como o texto se refere diretamente ao estado das estradas no Brasil Colonial, é correto dizer que a administração da Coroa Portuguesa, sob o ponto de vista da promoção do desenvolvimento econômico, deixou a desejar.
02. Houve bloqueio de grande parte dos auxílios do governo, porque a política de colonização no século XIX era impedir que imigrantes de uma mesma nacionalidade se reunissem em núcleos, a fim de promover sua assimilação.
03. Entre os colonos italianos, voltados para o trabalho no campo, houve forte eco do anarquismo. E-E-C-C
04. A terminologia colono, empregada em relação ao trabalhador imigrante, significou relações de trabalho diferenciais para os estrangeiros fixados em São Paulo e no Rio Grande do Sul.
02. (uFu MG) A crise do chamado “Antigo Sistema Colonial” deve ser vista em um contexto histórico mais amplo, que ultrapasse a questão das relações entre metrópoles e colônias, para abarcar, também, os processos históricos que estavam em curso na Europa e no mundo colonial.
Considerando o exposto acima, assinale a alternativa correta.
a) No campo da cultura, a crise do Antigo Sistema Colonial expressou-se em um desencantamento do mundo, em um pessimismo quanto aos valores éticos e morais, até então considerados inquestionáveis. Isto possibilitou a criação de condições para o surgimento do estilo barroco, que encontrou sua expressão máxima no mundo colonial.
b) A difusão das ideias iluministas na Europa fez surgir, na população colonial brasileira, a consciência de que a construção de uma sociedade democrática, livre e igualitária dependia de uma revolução que rompesse os laços com a metrópole, instaurando a república.
c) A política implantada por Marquês de Pombal modernizou a economia e a administração da metrópole e da colônia; rompeu o chamado “Pacto Colonial” e adotou o livre comércio. Esta foi a resposta de Portugal às pressões dos comerciantes e grandes proprietários do Brasil, que ameaçavam proclamar a independência.
d) No Brasil, movimento de contestação da ordem colonial, como a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, estavam inseridos nesses processos históricos mais amplos de lutas contra o absolutismo, o mercantilismo, os monopólios e privilégios. Esses e outros movimentos de contestação, nas colônias e na Europa, estava, minando as bases do Antigo Regime.
03. (uFT TO) O ano de 1808 marcou a chegada da família real portuguesa ao Brasil. É correto afirmar que a chegada ocorreu principalmente em razão da
a) perda de posse da Província Cisplatina.
b) invasão de Portugal pelas tropas de Napoleão.
c) intenção de proclamar a independência do Brasil.

d) implantação da guarda costeira nacional brasileira.
e) retomada de terras coloniais ocupadas pelos ingleses.
04. (FM Petrópolis RJ)
Catarinense. Edição de 5 set. 2017. Disponível em: <http:// dc.clicrbs.com.br/sc/entretenimento/ noticia/2017/09/confi ra-a-tira-do-armandinho-desta-terca-feira-9887947.html>. Acesso em: 9 jul. 2018. No contexto da independência brasileira, a charge ironiza o(a)
a) influência econômica inglesa sobre o Brasil.
b) imperialismo dos EUA sobre a América do Sul.
c) controle napoleônico sobre Portugal.
d) domínio brasileiro sobre a Província Cisplatina.
e) vigência da União Ibérica.
05. (uECE) Atente ao seguinte fragmento da obra da historiadora Emília Viotti da Costa, a respeito do processo de independência do Brasil:
“A ordem econômica seria preservada, a escravidão mantida. A nação independente continuaria subordinada à economia colonial, passando do domínio português à tutela britânica. A fachada liberal construída pela elite europeizada ocultava a miséria e a escravidão da maioria dos habitantes do país. Conquistar a emancipação definitiva da nação, ampliar o significado dos princípios constitucionais seria tarefa relegada aos pósteros”.
COSTA, Emília Viotti da. Introdução ao estudo da emancipação política do Brasil. In: MOTA, Carlos Guilherme (Org.). Brasil em perspectiva 16. ed. Rio de Janeiro: Editora Bertrand Brasil, 1987. p.25. Considerando o processo de independência do Brasil, assinale a afirmação verdadeira.
a) Não ocorreu nenhuma ocultação dos reais problemas sociais e econômicos do país após a independência, já que a elite local buscou solucioná-los imediatamente.
b) Apenas ocorreu a independência econômica do Brasil, mas não a política, pois a elite nacional europeizada submeteu-se aos interesses da Inglaterra.
c) Pelo fato de a monarquia ter sido logo adotada como forma de governo, a independência não representou mudanças sociais significativas, pois estas ficariam a cargo de gerações futuras.
d) Não houve acordo de independência com os Britânicos, que reagiram o quanto puderam à independência do Brasil, já que ela representaria a real autonomia econômica do país.
História 446 | PAS 2
BECK, A. “Armandinho” Diário
W PRIMEIRO REINADO
A consolidação da independência
O período que se seguiu à independência foi marcado por enorme agitação política proveniente de lutas internas e externas causadas pela consolidação da autonomia do país.
No Norte e Nordeste, militares e portugueses, que controlavam o comércio local, decidiram lutar para manter os laços com Portugal. O Sul, habituado a ter certa autonomia, na atividade agropastoril, demonstrou pouco interesse pelos recentes acontecimentos. Apenas as regiões litorâneas do Recife ao Rio de Janeiro procuraram integrar-se à política nacional, embora tomadas por rivalidades locais.
Por outro lado, a independência do Brasil não foi fruto de revoltas populares, nem de um projeto nacional. O Estado brasileiro nasceu da necessidade de se manter os interesses de uma elite que viu na permanência da monarquia uma forma de se ver livre de grupos mais exaltados.
A organização do Estado se deu nos moldes de uma monarquia autoritária. Aliado ao grupo conservador, D. Pedro I tomou medidas capazes de manter no Brasil um “liberalismo” bem moderado que garantisse a superioridade do monarca sobre os representantes da nação.
Enquanto negociavam o reconhecimento internacional da independência do Brasil, contando com o apoio dos Estados Unidos e Inglaterra, interessados no comércio com a jovem nação, o partido brasileiro, empenhava-se em concluir o projeto constitucional, que baseado nas ideias iluministas, oficializava a ruptura com Portugal. Somente em 1825, Portugal reconheceu a autonomia do Brasil, por meio de uma indenização de 2 milhões de libras, pagas por meio de empréstimos adquiridos com a Inglaterra, tendo esta exigido que o país acabasse com o tráfico negreiro, negociando a revogação do Tratado de 1810.
A manutenção da unidade territorial foi outra questão importante para consolidar a independência do Brasil. Durante um ano, houve revoltas entre tropas portuguesas e forças do governo brasileiro. A luta se estendeu pela Bahia, Pará, Maranhão, Piauí e Província Cisplatina. Em todas essas províncias, os revoltosos foram derrotados. Em meados de 1823, todo o país estava sob o comando de D. Pedro I.
A Constituição
O primeiro processo constitucional do Brasil iniciou-se com um decreto do príncipe D. Pedro, que no dia 3 de junho de 1822 convocou a primeira Assembleia Geral Constituinte e Legislativa da nossa história, visando à elaboração de uma constituição que formalizasse a independência política do Brasil em relação ao reino português. Dessa maneira, a primeira constituição brasileira deveria ter sido promulgada. Acabou porém, sendo outorgada já que, durante o processo constitucional, o choque entre o imperador e os constituintes mostrou-se inevitável.
O contexto que antecede a Assembleia foi marcado pela articulação política do Brasil contra as tentativas recolonizadoras de Portugal, já presentes na Revolução do Porto em 1820. Nesse mesmo cenário, destacam-se ainda, divergências internas entre conservadores e liberais radicais. Os primeiros, representados por José Bonifácio, resistiram inicialmente à ideia de uma Constituinte, mas por fim pressionados, acabaram aderindo com a defesa de uma rigorosa centralização política e a limitação do direito de voto. Já os liberais radicais, por iniciativa de Gonçalves Ledo, defendiam a eleição direta, a limitação dos poderes de D. Pedro e maior autonomia das províncias. O projeto estabelecia
447 FRENTE HISTÓRIA
PAS 2
MÓDULO 09 A
TREINAMENTO PAS PrOVa iTENS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 89 2013 13 2014 13 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
que o eleitor precisava ter renda anual equivalente a, no mínimo, 150 alqueires de mandioca. Por isso, este projeto ficou conhecido, popularmente, como Constituição da Mandioca.
A posição da Assembleia em reduzir o poder imperial faz D. Pedro I voltar-se contra a Constituinte e aproximar-se do partido português que defendendo o absolutismo, poderia estender-se em última instância, à ambicionada recolonização. Com a superação dos radicais, o confronto político se polariza entre os senhores rurais do partido brasileiro e o partido português articulado com o imperador. Nesse ambiente de hostilidades recíprocas, o jornal “A Sentinela”, vinculado aos Andradas, publica uma carta ofensiva a oficiais portugueses do exército imperial. A retaliação dá-se com o espancamento do farmacêutico David Pamplona, tido como provável autor da carta. Declarando-se em sessão permanente, a Assembleia é dissolvida por um decreto imperial em 12 de novembro de 1823. A resistência conhecida como “Noite da Agonia” foi inútil. Os irmãos Andradas, José Bonifácio, Martim Francisco e Antônio Carlos são presos e deportados.
Perdendo o poder que vinham conquistando desde o início do processo de independência, a aristocracia rural recua, evidenciando que a formação do Estado brasileiro não estava totalmente concluída.
A constituição de 1824 foi a primeira de nossa história e a única no período imperial. Com a Assembleia Constituinte dissolvida, D. Pedro I nomeou um Conselho de Estado formado por 10 membros que redigiu a Constituição, utilizando vários artigos do anteprojeto de Antônio Carlos. Após ser apreciada pelas Câmaras Municipais, foi outorgada (imposta)
em 25 de março de 1824, estabelecendo os seguintes pontos:
n um governo monárquico unitário e hereditário;
n voto censitário (baseado na renda) e descoberto (não secreto);
n eleições indiretas, onde os eleitores da paróquia elegiam os eleitores da província e estes elegiam os deputados e senadores. Para ser eleitor da paróquia, eleitor da província, deputado ou senador, o cidad ão teria de ter, agora, uma renda anual correspondente a 100, 200, 400, e 800 mil réis, respectivamente;
n catolicismo como religião oficial;
n submissão da Igreja ao Estado;
n quatro poderes: Executivo, Legislativo, Judiciário e Moderador. O Executivo competia ao imperador e o conjunto de ministros por ele nomeados. O Legislativo era representado pela Assembleia Geral, formada pela Câmara de Deputados (eleita por quatro anos) e pelo Senado (nomeado e vitalício). O Poder Judiciário era formado pelo Supremo Tribunal de Justiça, com magistrados escolhidos pelo imperador. Por fim, o Poder Moderador era pessoal e exclusivo do próprio imperador, assessorado pelo Conselho de Estado, que também era vitalício e nomeado pelo imperador.
Constituição de 1824
A Constituição de 1824 procurou garantir a liberdade individual, a liberdade econômica e assegurar, plenamente, o direito à propriedade.
Para os homens que fizeram a independência, gente educada à moda europeia e representantes das categorias dominantes, os direitos à propriedade, liberdade e segurança garantidos pela Constituição eram coisas bem reais. Não importava a essa elite se a maioria da população do país era composta de pessoas para as quais os direitos constitucionais não tinham a menor validade.
A Constituição afirmava a liberdade e a igualdade de todos perante a lei, mas a maioria da população permanecia escrava. Garantia-se o direito à propriedade, mas 95% da população (segundo algumas estimativas), quando não eram escravos, compunham-se de trabalhadores rurais residentes em terras alheias, que podiam ser mandados embora a qualquer momento. Garantia-se a segurança individual, mas podia-se matar um indivíduo comum sem punições. Aboliam-se as torturas, mas nas senzalas os instrumentos de castigo, como o tronco, a gargalheira e o açoite, continuavam sendo usados, e o senhor era o supremo juiz da vida e da morte de seus servos.
A elite de intelectuais do Império, porta-voz das categorias dominantes, criou uma ideologia que mascarava as contradições sociais do país e ignorava a distância entre a lei e a realidade.
A fachada liberal construída pela elite europeizada ocultava a miséria e a escravidão da maioria dos habitantes do país.
(Adaptado de Emília Viotti da Costa, 1978, p. 123-4. Gilberto Cotrim. História do Brasil Editora Saraiva, 1ª
Confederação do Equador
Os atos de D. Pedro I, dissolvendo a constituinte e decretando uma constituição, simbolizavam o predomínio do imperador, dos burocratas e comerciantes, muitos deles portugueses, que faziam parte do círculo dos íntimos. Em Pernambuco, os atos puseram lenha em uma fogueira que, desde 1817 e mesmo antes, não deixara de arder.
Fausto, Boris. História concisa do Brasil; página 82.
A imposição da Constituição de 1824 pelo imperador culminou em protestos em várias províncias do país, especialmente no Nordeste. Somada ao descontentamento político, estavam a precariedade econômica regional, provocada por crises como a do açúcar e do algodão, devido à concorrência externa e aos elevados impostos colocados pelo governo central. Devido a isso, os pernambucanos anunciaram, a 2 de julho de 1824, a criação da Confederação do Equador, juntamente com a Paraíba, o Rio Grande do Norte e o Ceará.
Entre os líderes, estavam jornalistas como Cipriano Barata; aristocratas como Manuel de Carvalho Pais de Andrade; juristas como José de Natividade Saldanha; religiosos como frei Caneca; militares como José de Barros Falcão e Agostinho Bezerra. Eles lutavam contra o autoritarismo do imperador, mas pouco reivindicavam contra a ordem econômica e social. No fundo, as províncias do Nordeste queriam mais equilíbrio entre si, assim como nas relações entre as provín-
História 448 | PAS 2
edição, 1999
cias e o governo central. Frei Joaquim do Amor Divino Rabelo Caneca, carmelita de origem humilde, teve importante atuação como líder popular e como jornalista político do “Tifis” pernambucano. Já no primeiro número do jornal, Frei Caneca denunciava o despotismo do poder central e conclamava o povo à luta. Considerava a Constituição contrária à liberdade, independência e direitos do Brasil. No que se refere à centralização, visava a desligar as províncias entre si e fazê-las todas dependentes do governo Executivo.
Os pernambucanos ainda sofriam forte influência dos ideais republicanos da Revolução de 1817. Além disso, esse tipo de regime político já vinha sendo adotado em toda a América após o processo de independência. Sob o comando do governador destituído, Manuel de Carvalho Paes de Andrade, o movimento separatista, republicano, essencialmente urbano e popular, espalhou-se pelo Nordeste.
A Confederação do Equador não conseguiu resistir à violenta repressão do governo imperial. D. Pedro contratou lorde Cocharne e o brigadeiro Francisco de Lima e Silva para conter os revoltosos. Assim, atacados por mar e por terra, o levante foi derrotado. Os líderes foram presos e condenados à morte, entre eles, estava frei Caneca.
Guerra da Cisplatina
O território que hoje corresponde ao Uruguai era a antiga colônia de Sacramento, fundada por portugueses, mas colonizada por espanhóis. Acordos internacionais estabeleceram que a colônia pertencia à Espanha, porém, em 1816, D. João VI, invadiu o território e o incorporou ao Brasil com o nome de Cisplatina. Em 1825, explodiu na região um movimento pela libertação da Cisplatina, com o apoio da Argentina. Reagindo à revolta, D. Pedro enviou tropas brasileiras ao local e gastou enorme quantidade de dinheiro público, sem de nada adiantar, pois, a guerra terminou com um acordo entre as partes envolvidas, estabelecendo que, a Cisplatina estava livre e seria criado um novo país, a República Oriental do Uruguai. A Guerra com desfecho desfavorável para o Brasil só serviu para desgastar ainda mais a imagem do imperador.
A abdicação de D. Pedro I

Vários foram os fatores que levaram à abdicação de D. Pedro I. O Primeiro Reinado apresentava uma difícil situação financeira em decorrência da balança comercial desfavorável, contribuindo para as altas taxas inflacionárias. Várias atitudes e eventos contribuíram para o descontentamento em relação à figura do imperador. São eles: o seu autoritarismo, demonstrado no fechamento da Assembleia Constituinte, a imposição da Constituição de 1824, a repressão à Confederação do Equador; a desastrosa Guerra da Cisplatina; a participação do imperador na sucessão do trono português e o aumento da dívida externa brasileira e do custo de vida.
A imprensa nacional inicia uma série de críticas ao governo imperial, resultando no assassinato do jornalista Líbero Badaró, grande opositor de D. Pedro I. A impunidade do mandante do crime provocou uma onda de indignação e protestos contra o império.
No ano de 1831, em Minas Gerais, o imperador enfrentou sérias manifestações, sendo recebido com faixas negras em sinal de luto pela morte do jornalista. Retornando à capital do Império, seus partidários promoveram uma festa em homenagem ao imperador, desagradando à oposição e ao povo. Inicia-se uma luta entre partidários e opositores ao imperador que culminaria na “Noite das Garrafadas”, que foi a investida ao evento organizado para recepcionar D. Pedro I de seu retorno de Outro Preto, que tinha o intuito de compensar hostis oposições mineiras. O evento, que iniciou-se com conflitos de rua, extendeu-se até a festa, onde os estudantes, cadetes e outros apagaram as fogueiras “portuguesas” e atacaram as casas, sendo atacados com garrafadas.
Após sucessivas mudanças ministeriais, procurando conter as manifestações, D.Pedro I abdicou, na madrugada de 7 de abril de 1831, em favor de seu filho D. Pedro de Alcântara.
Em Portugal, após enfrentar o irmão D. Miguel, será coroado rei de Portugal, com o título de Pedro IV. A abdicação de D. Pedro I consolidou o processo de independência ao afastar o fantasma da recolonização portuguesa. Daí, nos dizeres de Caio Prado Jr., “o 7 de abril, completou o 7 de setembro”. Como seu legítimo sucessor possuía apenas cinco anos de idade, inicia-se um período político denominado Período Regencial.
A09 y Primeiro Reinado 449
Fonte: Wikimedia commons
EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO
01. (unB DF) Leia o texto que se segue. A independência do Brasil não resultou em maiores alterações da ordem social econômica, ou da forma de governo. Exemplo único na história da América Latina, o Brasil ficou sendo uma monarquia entre repúblicas.
Boris Fausto, História do Brasil. Quanto às razões dessa continuidade social e econômica entre Colônia e o Império, julgue os itens seguintes.C-E-C-E
01. A abertura dos portos por Dom João estabeleceu uma ponte entre a Coroa portuguesa e os setores dominantes na Colônia.
02. A elite política promotora da independência, embora desejasse rupturas sociais mas profundas, teve que enfrentar a resistência da Corte portuguesa.
03. A monarquia transformou-se em um símbolo de autoridade, nos primeiros anos após a Independência, mesmo quando Dom Pedro I era contestado.
04. A continuidade foi facilitada pela existência de uma elite política orgânica, com uma base social firme e um projeto claro para a nova nação.
02. (uFu MG) No início dos trabalhos da Constituinte de 1823, Dom Pedro I proferiu o seguinte discurso: “Todas as Constituições que, à maneira de 1791 e 1792, têm estabelecido suas bases, e se têm querido organizar, a experiência nos tem mostrado que são totalmente teóricas e metafísicas e, por isso, inexequíveis: assim o prova a França, a Espanha e, ultimamente, Portugal. Elas não têm feito, como deviam, a felicidade geral, mas sim, depois de uma licenciosa liberdade, vemos que em uns países já aparece o despotismo, como consequência necessária de ficarem os povos reduzidos à triste situação de presenciarem e sofrerem todos os horrores da anarquia”.
HOLANDA, Sérgio Buarque de. (dir.). História Geral da Civilização brasileira. O Brasil Monárquico. Tomo II. Volume 3 [9ª. Edição]. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. p. 209 (Adaptado).
Ao se dirigir aos parlamentares da constituinte de 1823, Dom Pedro I se remete ao contexto político europeu do final do século XVIII e primeiras décadas do século XIX, demonstrando
a) preocupação com o avanço das ideias liberais e com o papel que lhe seria atribuído na nascente estrutura política brasileira.
b) inabilidade política, ao se colocar contrário aos desejos despóticos e centralizadores da classe senhorial brasileira.
c) ressentimento com a Revolução do Porto, ocorrida em 1820, que vetou o retorno de D. João VI ao trono de Portugal.
d) alinhamento com o modelo inglês de governo, almejando o apoio dos britânicos no processo de reconhecimento da Independência do Brasil.
03. (uFT TO) A partir de 1835, insatisfações em diferentes segmentos sociais nas províncias desencadearam as rebeliões regenciais. Grande parte das tensões era resultante de desigualdades sociais, crise econômico-financeira e descontentamentos políticos. Sobre as rebeliões regenciais é incorreto afirmar que:
a) No Maranhão, a revolta conhecida como Balaiada começou em 1838, quando o escravo Raimundo Gomes, que prestava serviços para um fazendeiro liberal, foi hostilizado por autoridades conservadoras da Vila do Manga; durante a fuga ele atacou
a cadeia e evadiu-se para o sertão. Incentivados pela ação de Raimundo Gomes, bandos de escravos e sertanejos passaram a atacar fazendas da região, tomaram a cidade de Caxias, instituíram o governo provisório, que exigiu a extinção da escravidão.
b) A insatisfação das elites gaúchas atingiu o auge quando o presidente da província, Antonio Rodrigues Braga, nomeado pela Regência, fixou um imposto sobre as propriedades rurais. Como consequência, em setembro de 1835, o coronel farroupilha Bento Gonçalves e seus homens ocuparam Porto Alegre e depuseram Braga. No ano seguinte, proclamaram a República Rio-Grandense, com sede na cidade de Piratini.
c) Em novembro de 1837, na Bahia, tropas do forte de São Pedro e de outras unidades, contando com apoio de oficiais e soldados do exército, sob a liderança de Sabino, sublevaram-se contra o despotismo do poder central. Os rebeldes formaram um grupo autônomo, anunciando a separação da Bahia, até que o príncipe D. Pedro II completasse a maioridade.
d) Em 1835, africanos e afro-brasileiros de religião muçulmana se levantaram em armas na Bahia contra a escravidão e contra o predomínio da religião católica no Brasil. O movimento dos Males acabou sufocado sob violenta repressão, sendo condenados a pena de morte 5 líderes negros.
e) No ano de 1835 teve início a Cabanagem. Rebeldes ocuparam a cidade de Belém, em protesto ao governador Bernardo Lobo de Sousa, em razão de ter prendido, em 1834, líderes oponentes ao seu governo. Lobo de Sousa foi executado. O poder passou para as mãos dos Cabanos, grupo formado na maioria por trabalhadores rurais. Felix Antonio Malcher, um dos principais líderes foi deposto por Antonio Vinagre e Eduardo Angelim, que defendiam o rompimento da província com o Poder Central.
04. (Enem MEC) A Confederação do Equador contou com a participação de diversos segmentos sociais, incluindo os proprietários rurais que, em grande parte, haviam apoiado o movimento de independência e a ascensão de D. Pedro I ao trono. A necessidade de lutar contra o poder central fez com que a aristocracia rural mobilizasse as camadas populares, que passaram então a questionar não apenas o autoritarismo do poder central, mas o da própria aristocracia da província. Os líderes mais democráticos defendiam a extinção do tráfico negreiro e mais igualdade social. Essas ideias assustaram os grandes proprietários de terras que, temendo uma revolução popular, decidiram se afastar do movimento. Abandonado pelas elites, o movimento enfraqueceu e não conseguiu resistir à violenta pressão organizada pelo governo imperial.
FAUSTO, B História do Brasil São Paulo: EDUSP, 1996 (adaptado) Com base no texto, é possível concluir que a composição da confederação do Equador envolveu, a princípio,
a) os escravos e os latifundiários descontentes com o poder centralizado.
b) diversas camadas, incluindo os grandes latifundiários, na luta contra a centralização política.
c) as camadas mais baixas da área rural, mobilizadas pela aristocracia, que tencionava subjugar o Rio de Janeiro.
d) as camadas mais baixas da população, incluindo os escravos, que desejavam o fim da hegemonia do Rio de Janeiro.
e) as camadas populares, mobilizadas pela aristocracia rural, cujos objetivos incluíam a ascensão de D. Pedro I ao trono.
História 450 | PAS 2
MÓDULO 10 A
W PERÍODO REGENCIAL
O Período Regencial foi um dos mais conturbados da história brasileira. Dada a menoridade do sucessor ao trono, o país foi governado por regentes, que, segundo a Constituição de 1824, seriam eleitos pela Assembleia Geral. Durante as regências, houve três correntes políticas:
n os Moderados ou Chimangos, que representavam a aristocracia rural;
n os Restauradores ou Caramurus, composto por comerciantes portugueses e pela burocracia estatal;
n os Exaltados ou Farroupilhas que representavam as camadas médias urbanas.
Os Moderados defendiam uma monarquia moderada, os Restauradores pregavam a volta de D. Pedro I e os Exaltados exigiam maior autonomia das províncias. Os mais radicais, entre os exaltados, pediam o fim da Monarquia e a proclamação de uma República.
A turbulência do período ameaçou a unidade territorial do país. Na área política, era perceptível um certo vazio na sua gestão e administração e economicamente, o país perdia competitividade com seus produtos de exportação. Ao mesmo tempo, no setor social, uma série de rebeliões eclodiam pelas províncias.
Nesse período, o quadro partidário esteve bastante confuso em todo o país, sobretudo no Rio de Janeiro. Reunidos às pressas no mesmo dia da abdicação de D. Pedro I, deputados e senadores presentes na capital instituíram e elegeram uma Regência Trina Provisória com os senadores: José Joaquim Carneiro Campos, Nicolau Pereira de Campos Vergueiro e Francisco de Lima e Silva.
No dia 17 de junho de 1831, deputados e senadores, reunidos em Assembleia Geral elegeram a Regência Trina Permanente, composta por Francisco de Lima e Silva, José da Costa Carvalho e Bráulio Muniz. O ministro da Justiça foi o padre Diogo Antônio Feijó, que criou a Guarda Nacional, uma milícia armada formada por pessoas de posse. Essa guarda se transformou no principal instrumento de repressão da aristocracia rural, para conter os movimentos populares. O comando da Guarda Nacional nos municípios era entregue a um coronel, patente vendida aos grandes proprietários de terras, que assumiam as funções do Estado nessas regiões.
No ano de 1832, foi aprovado o Código do Processo Criminal, que concedia aos municípios uma ampla autonomia judiciária. Essa autonomia será utilizada para garantir a imunidade dos grandes proprietários de terras. No ano de 1834, procurando atenuar as disputas políticas entre exaltados e moderados, foi elaborado o Ato Adicional, que estabelecia algumas alterações na Constituição de 1824. A seguir, as emendas da Constituição de 1824:
n a criação das Assembleias Legislativas Provinciais, substituindo os Conselhos Provinciais e garantindo uma maior descentralização administrativa;
n o poder moderador não seria exercido durante a regência;
n criação do Município Neutro do Rio de Janeiro, sede da administração central;
n substituição da Regência Trina pela Regência Una, eleita pelas assembleias de todo país. O mandato do regente seria de quatro anos. Semelhante medida é tida como uma experiência republicana.
Origens do coronelismo
A Guarda Nacional, criada em agosto de 1831, era produto de uma realidade política e social dominada pela concentração do poder local nas mãos dos grandes senhores de terra. Esse grupo dominante temia as manifestações de descontentamento das camadas baixas da população, entre as quais estavam os escravos. Para controlá-las havia o Exército. Mas as elites não confiavam nele, pois a insatisfação se alastrava também em suas fileiras.
Em abril de 1831, por exemplo, tropas militares do Rio de Janeiro apoiaram os protestos populares no Campo de Santana, que levaram à abdicação de Dom Pedro I. Nos me-
451 FRENTE HISTÓRIA
PAS 2
TREINAMENTO PAS PrOVa iTENS 2007 2008 2009 2010 2011 20 2012 90 2013 2014 2015 2016 2017 61 2018 2019 56 2020 88 2021
ses subsequentes, o mal-estar na tropa explodiu em motins de rua que chegaram a alarmar a Regência.
Diante dessa conjuntura, a Regência reduziu os contingentes do Exército para 10 mil homens (eram 30 mil, um ano antes). Em seguida, voltou-se para os senhores do poder local, municipal, e criou com eles – e, até certo ponto, para eles –uma milícia especial. Essa milícia, considerada força auxiliar do Exército, seria formada pela população masculina local que contasse com uma renda mínima de 100 mil réis anuais.
Seu comandante, no lugar, seria o chefe político local, eleito pelos fazendeiros para a função de coronel, posto mais alto da nova força armada. Essa milícia era a Guarda Nacional.
A exigência de uma renda mínima para integrar suas fileiras excluía dela a população mais pobre. Na realidade, a Guarda Nacional era um instrumento a serviço do mandonismo local, que, com sua criação, já não precisava do Exército para sufocar rebeliões ou simples manifestações de descontentamento social. Com ela, popularizou-se o termo coronel para designar o líder político local. Surgiu daí a prática do coronelismo, fenômeno político cuja sobrevivência pode ser encontrada ainda hoje no interior do país, embora a Guarda Nacional tenha sido extinta em 1922.

Além da Guarda Nacional, as elites regionais dispunham de outros instrumentos de poder. Um deles eram as milícias particulares dos fazendeiros, formadas por jagunços, pistoleiros, perseguidos da justiça, homiziados em suas terras, e arruaceiros de toda índole. Essas forças irregulares eram convocadas toda vez que a oligarquia no poder se sentia ameaçada. Com elas era mobilizada também a Guarda Nacional, uma força criada para defender o interesse público, mas que, na verdade, servia principalmente para salvaguardar os intocáveis privilégios (públicos e privados) das oligarquias dominantes.
Ao utilizar a Guarda Nacional para fins particulares (a defesa de suas terras, por exemplo), os coronéis do interior tratavam a coisa pública como se fosse coisa privada. Dessa forma, reafirmava-se no Brasil uma tendência histórica que vinha da formação do Estado patrimonialista em Portugal: a confusão entre público e privado.
O exercício da crítica política e da vigilância sobre o Estado é o que faz de um indivíduo cidadão. Caso contrário, ele será apenas súdito de sua majestade ou pessoa física obediente aos ditames do poder político. No Brasil Imperial, tal como observaria José de Alencar, esse espaço intermediário entre o Estado e os indivíduos não chegou a se formar plenamente, devido, entre outras razões, à ação controladora da burocracia do Estado e à prática do coronelismo.
Regência una de Feijó
Obedecendo ao Ato Adicional, novas eleições foram feitas para a escolha do regente, e o vencedor foi o padre Diogo Antônio Feijó, que era ligado à ala dos moderados. Durante a regência de Feijó, houve uma reorganização dos grupos políticos. A composição da regência comprovava a predominância dos conservadores “moderados” no governo. A partir de 1834, a cena política do Brasil passou a ser dominada pela ala dos progressistas e dos regressistas, resultantes da cisão do grupo dos moderados. Os progressistas eram favoráveis a um governo forte, centralizado, mas disposto a fazer concessões aos liberais exaltados. Os regressistas não estavam dispostos a fazer concessões aos liberais exaltados. Era favorável ao fortalecimento do legislativo e contrário à liberdade administrativa das províncias. Em 1840, os regressistas assumiram a denominação de Partido Conservador, e os regressistas, a de Partido Liberal.
Durante a regência de Feijó, explodiram dois importantes levantes regenciais: a Cabanagem na província do Pará e a Guerra dos Farrapos, na província do Rio Grande do Sul. Mostrando incapacidade para conter as revoltas, Feijó sofre grande oposição parlamentar, e com a saúde abalada, decidiu renunciar em 1837. Provisoriamente, a regência foi entregue a Pedro de Araújo Lima, senador ligado aos regressistas.
Realizaram-se novas eleições e o nome de Araújo Lima foi confirmado como regente.
Cabanagem
A Cabanagem foi um dos mais importantes movimentos sociais ocorridos na história do Brasil, marcado pelo controle do poder político pelas camadas populares. A população do Pará, em sua maioria, era constituída por negros, índios e mestiços. Eles trabalhavam na extração de produtos da floresta, moravam em cabanas à beira dos rios, em condições precárias e de absoluta miséria. A revolta dos cabanos representa uma tentativa de modificar a situação de injustiça social de que eram vítimas. A princípio o movimento contou com o apoio de fazendeiros locais, descontentes com a política do governo imperial e com a falta de autonomia das províncias. Entretanto não demorou para que se afastassem do movimento, pois não concordavam com os objetivos dos rebeldes, que incluíam o fim da escravidão e a distribuição de terras.
História 452 | PAS 2
Figura 01 - Coronel Joca Tavares e auxiliares, no Rio Grande do Sul.
A Cabanagem foi um movimento essencialmente popular, porém, em virtude de traições por parte dos antigos aliados fazendeiros, o movimento ficou enfraquecido, facilitando a repressão pelas forças regenciais. A primeira rebelião popular da história brasileira terminou com um saldo de mais de 40.000 mortes, em população de aproximadamente 100.000 pessoas.
Farroupilha
A revolução Farroupilha foi a mais longa que já ocorreu na história brasileira (1835 – 1945). O movimento possui suas raízes na base econômica da região, esta que buscava atender às necessidades do mercado interno: a pecuária e a comercialização do charque. Os fazendeiros de gado gaúcho, denominados estancieiros, se revoltaram contra a elevação dos impostos sobre o charque, impedindo de competir com o charque argentino, que era privilegiado com tarifas alfandegárias menores. Como os impostos eram menores, os produtos argentinos e uruguaios acabavam custando menos do que os produzidos no Rio Grande do Sul. Os estancieiros reivindicavam maior autonomia provincial. Os farroupilhas, que pertenciam ao Partido Exaltado, em sua maioria republicanos; liderados por Bento Gonçalves ocuparam Porto Alegre, no ano de 1835, e em 1836 proclamaram a República de Piratini ou Rio Grandense. Em 1839, com o auxílio do italiano Giuseppe Garibaldi e Davi Canabarro proclamaram a República Juliana, na região de Santa Catarina.
Com o golpe da maioridade, em 1840, D. Pedro II, procurando pacificar a região, prometeu anistia aos revoltosos, medida que não surtiu efeito. Em 1842, foi enviado Luís Alves de Lima e Silva, o barão de Caxias, para dominar a região. Além da ação militar, Caxias procurou fazer acordos com os revoltosos. Assim, em 1845, foi assinado um acordo de paz, Paz de Ponche Verde, entre Caixas e Canabarro, que estabelecia anistia geral aos rebeldes, libertação dos escravos que lutaram na guerra e taxação de 25% sobre o charque platino. O termo “farrapos” foi uma alusão à falta de uniforme dos participantes da rebelião.
A Guerra dos Farrapos já não foi uma revolta popular, pobres. Nela foram, principalmente, os ricos estancieiros que lutaram por seus interesses econômicos e políticos. Não existia entre os líderes farroupilhas o desejo de acabar com as injustiças sociais e a miséria da maioria da população. Estes queriam apenas garantir o lucro das fazendas pecuárias, além de aumentar a liberdade administrativa e o poder político que possuíam na região.
Sabinada
A Balaiada foi um movimento liderado pelo médico Francisco Sabino Barroso, por isso conhecida como sabinada. Ocorreu na Bahia (1837 a 1838). Contrário à centralização política patrocinada pelo governo regencial, seu objetivo principal era proclamar uma república independente até que D. Pedro II assumisse o trono imperial.
Com parte do exército baiano, os sabinos conseguiram tomar o poder em Salvador, no dia 7 de novembro de 1837. Mas o movimento não contagiou a população local, o governo central usou da violência e controlou a rebelião, que ficou restrita à participação da camada média urbana de Salvador. Apesar da violenta repressão, os principais líderes do movimento não foram mortos. O médico, por exemplo, foi preso e degredado para o Mato Grosso.
Balaiada
A Balaiada foi um movimento de caráter popular que ocorreu no Maranhão (1838 – 1841) e teve como líderes Raimundo Gomes, apelidado de “Cara Preta”; Manuel dos Anjos Ferreira, fabricante de cestos e conhecido como “Balaio” e Cosme Bento, líder de negros foragidos.
A grave crise econômica, provocada pela queda dos preços do algodão, a principal riqueza do Maranhão devido à concorrência com esse produto produzido nos Estados Unidos, mais barato e de melhor qualidade, e a situação miserável da população, cansada de tanta injustiça social, miséria, fome, escravidão e maus-tratos, instaurou-se uma rebelião contra a aristocracia local. Além disso, a insatisfação política reinava entre a classe média maranhense, representada pelos bem-te-vis.
Os rebeldes ocuparam a cidade de Caxias e procuraram implantar um governo próprio. A repressão regencial foi liderada por Luís Alves de Lima e Silva, que recebeu o título de “barão de Caxias” pelo sucesso militar. O combate aos balaios foi duro e violento. A perseguição aos rebeldes só terminou em 1841, quando já havia morrido cerca de 12 mil sertanejos e escravos.
Houve ainda um outro levante, que durou apenas dois dias, mas com grande importância, por se tratar de uma rebelião de escravos. Trata-se da Revolta dos Malês, ocorrida na Bahia, no ano de 1835. Os negros malês eram de religião muçulmana, e se rebelaram contra a opressão dos senhores brancos. Com gritos de “morte aos brancos, viva os nagôs”, espalharam pânico pela região. A repressão foi muito violenta, como a maioria delas “A província da Bahia era no século XIX uma das mais prósperas regiões canavieiras das Américas. Os engenhos de açúcar, movidos pela mão de obra escrava, estavam localizados sobretudo no Recôncavo, região fértil e úmida que abraça a Baía de Todos os Santos. Salvador, então mais conhecida como Cidade da Bahia, deveria contar, segundo estimativa da historiadora Kátia Mattoso, com 68 mil habitantes na época da rebelião. A recessão econômica das décadas de 1820 e 1830 e o processo turbulento de

A10 y Período Regencial 453 Fonte: Wikimedia commons
descolonização e formação do Estado nacional convergiriam para romper a relativa apatia política que caracterizara a sociedade colonial baiana. Então houve momentos de violência.
A revolta de 1835 foi um elemento importante dessa correnteza. Foi um movimento envolvendo escravos e libertos. A revolta de 1835 deve ser compreendida na articulação entre conflitos de classes, étnicos e religiosos”
Regência una de Araújo Lima
Araújo Lima era presidente da Câmara e partidário dos Conservadores. Sua regência de caráter conservador, ao assumir o governo, organizou um ministério composto só por regressistas, que ficou conhecido como o Ministério das Capacidades. Os movimentos populares eram atribuídos às reformas liberais do Ato Adicional. Procurando restaurar a ordem no país, o Ato Adicional foi alterado, mediante a aprovação, no ano de 1840, da Lei Interpretativa do Ato Adicional, que suprimia a autonomia das províncias e garantia a centralização política.
EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO
01. (unB DF) Sobre o Período Regencial, um dos mais instáveis da vida política brasileira, julgue os itens abaixo.
01. Dividiu-se em três etapas: Regência Trina Provisória (de abril a junho de 1831), Regência Trina Permanente (de junho de 1831 a outubro de 1835) e Regência Uma (de 1835 a 1840).
02. A mudança de Regência Trina para Uma foi determinada pelo Ato institucional de 1835 que reformava a Constituição outorgada em 1824 e com o que se pretendia assegurar a centralização do poder.
03. Durante o Período Regencial organizaram-se diferentes correntes políticas, que chegaram a construir importantes partidos, entre os quais se destacaram o Partido Liberal e o Partido Conservador.
04. O Período Regencial foi marcado pela eclosão de diferentes conflitos político-sociais, em decorrência da confrontação de grupos divergentes envolvendo, em geral, as camadas mas pobres da população, que expressavam seu descontentamento contra um regime que não levava em conta seus problemas e necessidades.
05. Revolta dos Malés, Sabinada, Balaiada, Cabanagem são alguns dos conflitos que eclodiram nas províncias, ao longo do Período Regencial. C-E-C-C-C
02. (UFT TO) A Guerra da Cisplatina (1825-1828) marcou a política externa brasileira no momento inicial do Período Imperial. Considerando-se esse conflito, é incorreto afirmar que a Cisplatina
a) correspondia ao território da Banda Oriental, atual Uruguai, e havia sido incorporada ao Império português anteriormente à independência do Brasil.
b) era alvo do interesse de portugueses, brasileiros e argentinos, em razão de seu importante papel comercial e estratégico na região platina.
c) se tornou, ao final da Guerra, parte integrante da Confederação das Províncias Unidas do Rio da Prata, juntamente com a Argentina.
Ainda no ano de 1840, foi fundado o Clube da Maioridade, que defendia a antecipação da maioridade do imperador. Segundo os membros do Clube, a presença do imperador contribuiria para cessar os movimentos populares.
Em julho de 1840, após a aprovação de uma emenda constitucional, que antecipava a maioridade do imperador, D. Pedro II foi coroado imperador do Brasil. Esse episódio é conhecido como Golpe da Maioridade (D. Pedro tinha, na ocasião 15 anos).
Após a independência, tornou-se necessária a organização do Estado Nacional que, como vimos, manteve as estruturas socioeconômicas herdadas do período colonial: o lati fúndio monocultor e escravocrata, mantendo a economia nacional voltada para atender às necessidades do mercado externo. Tal quadro veio agravar a situação das camadas populares que passaram, por meio das rebeliões, a questionar a estrutura do novo Estado e a propor um novo modelo. Daí as propostas separatistas e republicanas.
d) tinha a pecuária como principal atividade econômica, além de manter importante atividade mercantil na cidade portuária de Montevidéu.
03. (UFU MG) A história brasileira é repleta de eventos em que determinados grupos promoveram ações de ruptura das regras do jogo político, visando à conquista do poder, de forma que, tradicionalmente, tais ações, em muitos casos, acabaram por compor a história da nação classificadas como golpes.
Em um desses eventos, o poder central determinou que o exército invadisse o plenário do congresso que estava em reunião para a elaboração da Constituição Brasileira, o que resultou na prisão de diversos deputados e na deportação de outros.
Esse episódio refere-se à
a) Ditadura Civil-militar.
b) Declaração da Maioridade.
c) Noite da Agonia.
d) Proclamação da República.
04. (Fuvest SP) Sobre a Guarda Nacional, é correto afirmar que ela foi criada:
a) Pelo imperador, D. Pedro II, e era por ele diretamente comandada, razão pela qual tornou-se a principal força durante a Guerra do Paraguai.
b) Para atuar unicamente no sul, a fim de assegurar a dominação do Império na Província Cisplatina.
c) Segundo o modelo da Guarda Nacional Francesa, o que fez dela o braço armado de diversas rebeliões no período regencial e início do Segundo Reinado.
d) Para substituir o exército extinto durante a menoridade, o qual era composto, em sua maioria, por portugueses e ameaçava restaurar os laços coloniais.
e) No Período Regencial como instrumento dos setores conservadores destinado a manter e restabelecer a ordem e a tranquilidade públicas.
História 454 | PAS 2
MÓDULO 11 A
W SEGUNDO REINADO Política no Segundo Reinado
O Segundo Reinado, que representou o apogeu do regime monárquico brasileiro, teve início em 1840, com a antecipação da maioridade de Dom Pedro II. Deu-se continuidade à centralização política e administrativa promovida em 1837, “pacificando-se” o país através da repressão às revoltas geradas no período anterior, assim como aos novos movimentos que colocariam em risco a ordem monárquica. Nesse sentido, conservadores e liberais, os dois partidos então existentes, integraram o governo e se revesaram no poder durante o período de “conciliação”, de forma a não ameaçar a ordem imperial oligárquica brasileira.

O partido conservador era formado pela união de proprietários rurais, burocratas e comerciantes, já do partido liberal, faziam parte proprietários rurais menos tradicionais e profissionais liberais da classe média. Os dois partidos representavam as classes dominantes, defendiam a monarquia e a manutenção da mão de obra escrava.
Para as classes dominantes, a antecipação da maioridade de D. Pedro II, representava a garantia da manutenção de seus privilégios políticos e econômicos e a força necessária para conter as inúmeras rebeliões que estavam ocorrendo.
Por isso, estas não apresentavam divergências ideológicas, justificando uma frase muito comum na época, citada por Oliveira Vianna: “Nada mais parecido com um conservador do que um liberal no poder, e nada mais parecido com um liberal do que um conservador no poder”.
O primeiro ministério do Segundo Reinado era composto por liberais, que apoiaram o golpe da Maioridade. Funcionou de 1840 a 1841 e ficou conhecido como “Ministério dos Irmãos”, sendo formado pelos irmãos Cavalcanti, Coutinho e Andrada. O gabinete ministerial sofria oposição da Câmara, formada, na sua maioria por conservadores. Diante dessa situação, a Câmara de Deputados foi dissolvida e foram marcadas novas eleições.
TREINAMENTO PAS
FRENTE HISTÓRIA
PAS 2
Figura 01 - Batalha de Avaí, quadro de Pedro Américo no Museu Nacional de Belas Artes. Ocorrida durante o Segundo Reinado, essa Batalha fez parte da Guerra do Paraguai.
PrOVa iTENS 2007 73 - 74 - 75 - 78 - 79 2008 2009 12 - 18 - 20 - 21 2010 41 - 42 - 45 - 46 - 50 2011 17 2012 87 2013 44 - 81 2014 14 - 35 2015 19 - 20 - 21 2016 50 - 53 - 54 2017 50 2018 16 - 17 - 18 2019 2020 86 - 87 - 89 2021
Para garantir um grande número de deputados liberais, os membros do partido, usando de violência, fraudaram as eleições e garantiram a maioria parlamentar. Tal episódio é conhecido como “eleições do cacete”. Os conservadores reagiram e exigiram que o imperador dissolvesse a Câmara que havia sido eleita. D. Pedro II demitiu o ministério liberal, nomeou um ministério conservador e marcou novas eleições - também marcadas por fraudes. A vitória dos conservadores e o avanço de medidas centralizadoras provocaram uma reação dos liberais, em São Paulo e Minas Gerais - a chamada Revolta Liberal de 1842. Em 1844 o imperador demitiu o gabinete conservador e nomeou um gabinete liberal, cuja principal decisão foi a criação da tarifa Alves Branco (1844), que extinguiu as taxas preferenciais aos produtos ingleses. No ano de 1847, foi criado o cargo de presidente do Conselho de Ministros, implantando o parlamentarismo no Brasil.
O sistema parlamentarista no Brasil funcionava sob a tutela do poder executivo. Realizada a eleição, D. Pedro II nomeava um líder político do partido vencedor para o cargo de primeiro-ministro. Esse líder formava o gabinete ministerial, que deveria conseguir a aprovação da maioria na Câmara. Caso não fosse aprovado, cabia a D. Pedro II, demitir o gabinete ou dissolver a câmara para convocar novas eleições. Dessa forma, continuava existindo uma forte subordinação do gabinete ministerial ao imperador, devido ao poder moderador, caracterizando um “parlamentarismo às avessas”.
W Revolução Praieira
Em 1848, mesmo ano em que ocorria a Primavera dos Povos na Europa, dava-se início em Pernambuco, à Revolta da Praia ou Revolução Praieira, a última manifestação de rebeldia ao governo imperial.
Descontentes por terem perdido o controle da província para os conservadores, os liberais, liderados por Pedro Ivo e Borges Fonseca, iniciaram um movimento, que propunha melhorias nas relações de trabalho, nacionalização do comércio, até então dominado pelos portugueses, melhor distribuição de terras, voto livre e universal, liberdade de imprensa, extinção do poder moderador e garantia dos direitos individuais do cidadão. Seus planos foram divulgados num documento que ficou conhecido como Manifesto do Mundo
A revolta não durou um ano, quando as forças do império puseram fim ao ciclo de revoluções, terminando de vez com a Praieira.
Os partidos políticos
Os dois grandes partidos imperiais – o Conservador e o Liberal – completaram sua formação em fins da década de 1830, como agremiações políticas opostas. Mas havia mesmo diferenças ideológicas ou sociais entre eles? Não passariam no fundo de grupos quase idênticos, separados apenas por rivalidades pessoais?
Se havia uma certa diferenciação ideológica entre os dois partidos, cabe perguntar a que se devia. Ao analisar a composição dos ministérios imperiais, José Murilo de Carvalho chega a algumas conclusões significativas. A seu ver, nas décadas de 1840 e 1850, sobretudo, o Partido Conservador representava uma coalizão de proprietários rurais e burocratas do governo a que se juntou um setor de grandes comerciantes preocupados com as agitações urbanas. O Partido Liberal reunia, principalmente, proprietários rurais e profissionais liberais.
Uma distinção importante dizia respeito às bases regionais dos dois partidos. Enquanto os conservadores extraíam sua maior força da Bahia e Pernambuco, os liberais eram mais fortes em São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. A união entre burocratas, com destaque para os magistrados, e os grandes proprietários rurais fluminenses representou o coração da política centralizadora sustentada pelos conservadores.
A concepção de um império estável e unificado, originária da burocracia governamental, foi assumida pelos donos de terras fluminenses, estritamente vinculados à Corte pela geografia e por seus negócios. O setor de proprietários rurais da Bahia e Pernambuco, pertencente ao Partido Conservador, tinha vivido e ainda estava vivendo a experiência das lutas pela autonomia regional com conteúdo popular. Essa seria sua razão básica para apoiar a ideia de um governo central, dotado de grande autoridade.
Por sua vez, em uma primeira fase, as propostas liberais de descentralização partiam de áreas como São Paulo e Rio Grande do Sul, onde havia uma tradição de autonomia na classe dominante. O liberalismo, no caso de Minas, provinha tanto de proprietários rurais como da população urbana das velhas cidades geradas pela mineração.
Por outro lado, a introdução de propostas, como a ampliação da representação política e a ênfase no papel da opinião pública, teria resultado na presença de profissionais liberais urbanos no Partido Liberal. Essa presença só se tornou significativa a partir da década de 1860, com o desenvolvimento das cidades e o aumento do número de pessoas com educação superior.
Lembremos por último que, por volta de 1870, principalmente em São Paulo, as transformações socioeconômicas haviam gerado uma classe baseada na produção cafeeira, e essa classe assumiu com toda a consequência um dos aspectos principais da descentralização: a defesa da autonomia provincial.
Ao mesmo tempo, entre grupos de base social diversa, como essa burguesia cafeeira e a classe média urbana, surgia uma convicção nova. Ela consistia na descrença de que reformas descentralizadoras ou de ampliação da representação política pudessem ocorrer nos quadros da monarquia.
História 456 | PAS 2
(FAUSTO, Bóris. História do Brasil São Paulo, Edusp, 1994.) (Myriam Becho e Patrícia Ramos. História das Cavernas ao Terceiro Milênio 1ª ed. Editora Moderna, 1997.)
Política externa no Segundo Reinado
A política externa brasileira, durante o Segundo Reinado, foi marcada por uma série de conflitos na região do Rio da Prata, responsáveis pela Guerra do Paraguai e por atritos diplomáticos com a Inglaterra, gerando a chamada Questão Christie.
W A Questão Christie
A influência da Inglaterra no Brasil está presente desde antes do processo de independência. Com a assinatura dos tratados de 1810, a Inglaterra ganha privilégios econômicos no território brasileiro, e com a independência, em 1822, a mesma impõe como forma de reconhecimento da autonomia, a renovação dos tratados de 1810. Ademais, o Brasil era dependente financeiramente da Grã-Bretanha. Durante o Segundo Reinado, a relação entre Brasil e Inglaterra conheceu sucessivos atritos que culminaram com o rompimento das relações diplomáticas entre os dois países. As hostilidades entre ambos começou em 1844, com a aprovação da tarifa Alves Branco, que acabou com as vantagens comerciais que os ingleses tinham no Brasil.
A resposta do governo britânico foi a aprovação do Bill Aberdeen (1845), decreto que proibia o tráfico negreiro e outorgava o direito, aos ingleses, de aprisionar qualquer navio negreiro. Respondendo às pressões inglesas, no ano de 1850, foi promulgada a Lei Euzébio de Queirós, que extinguia, definitivamente, o tráfico negreiro no Brasil. No ano de 1861, o navio inglês Prince of Walles afundou nas costas do Rio Grande do Sul e sua carga foi pilhada. O embaixador inglês no Brasil, William Christie, exigiu uma indenização ao governo imperial. No ano de 1862, marinheiros britânicos embriagados foram presos no Rio de Janeiro e o embaixador Christie exigiu a demissão dos policiais e desculpas oficiais do governo brasileiro à Inglaterra.
O Brasil recusou-se a aceitar as exigências de Christi e alguns navios brasileiros foram aprisionados pela Inglaterra e o governo pagou a indenização referente ao roubo da carga do navio inglês naufragado. Em 1863, sob a mediação de Leopoldo I, rei de Bélgica, ficou estabelecido que a Inglaterra deveria se desculpar ao governo brasileiro pelo ocorrido com os marinheiros, na cidade do Rio de Janeiro. Diante da negativa do Governo inglês, D. Pedro I resolveu romper relações diplomáticas com a Inglaterra.
As relações diplomáticas entre os dois países só foram reatadas em 1865, quando, por meio do embaixador Edward Thornton, ocorreu a apresentação de desculpas oficiais a D. Pedro II.
W A Questão Platina
O Brasil tinha interesses econômicos e políticos na região platina (área fronteiriça entre Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai), porque pretendia o controle sobre o rio da Prata, que era o único meio de se chegar ao Mato Grosso, pois na
época quase não havia estradas. Pretendia também evitar ataques uruguaios às fazendas gaúchas e impedir a união entre Argentina e Uruguai. Após a formação do Uruguai, foram organizados dois partidos políticos no país: o Blanco, liderado por Manuel Oribe, aliado dos argentinos; e o Colorado, liderado por Frutuoso Rivera, apoiado pelo Brasil.
Cerco de Montevidéu na luta contra Oribe Principais batalhas na luta contra Rosas
A aliança entre Manuel Oribe, então presidente do Uruguai, com o governo argentino de Juan Manuel Rosas, trouxe à tona a ideia de restauração do antigo vice-reinado do Prata. Procurando garantir a livre navegação no rio da Prata, D. Pedro II envia uma tropa militar sob o comando de Caxias. Essa recebe o apoio das tropas militares de Rivera que, juntas, depuseram Manuel Oribe do poder, em 1851.
Como Rosas apoiava os Blancos, o governo imperial organizou uma expedição e invadiu a Argentina. Os brasileiros venceram, na batalha de Monte Caseros, depuseram Rosas e, em seu lugar, colocaram o general Urquiza, auxiliar do Brasil na campanha contra Oribe. Na década de 50, os fazendeiros gaúchos brasileiros continuaram a se desentender com os Blancos uruguaios, acusando-os de invadir suas fazendas. O império brasileiro resolveu declarar guerra ao Uruguai, aliando-se, novamente, ao partido Colorado. Sentindo-se ameaçado, o Uruguai de Aguirre pediu ajuda ao Paraguai, de Solano López, formando uma aliança militar.
O Brasil invadiu o Uruguai e garantiu a vitória de Venâncio Flores sobre Aguirre. Paraguai declara guerra ao Brasil, invadindo o Mato Grosso. Pouco tempo depois, declarou guerra à Argentina, invadindo Corrientes. Era o início de uma longa guerra.
A11 y Segundo Reinado 457
URUGUAI
Rio Grande do Sul MONTEVIDÉU BUENOS AIRES
Monte Caseros Colônia Paissandu Salto Bagé Porto Alegre RiodaPrata RioUruguai Rio Paraná OCEANO ATLÂNTICO
BRASIL ARGENTINA ENTRE-RIOS CORRIENTES
Toneleros
MaPa 01 - Campanhas contra Oribes e Rosas (1851-1852).
W Guerra do Paraguai
O Paraguai se constituiu em uma exceção na América Latina, durante o século XIX, em virtude de seu desenvolvimento econômico autônomo. Durante os governos de José Francia (1811/1840) e Carlos López (1840/1862), houve um relativo progresso econômico, com construção das estradas de ferro, sistema telegráfico eficiente, surgimento das indústrias siderúrgicas, fábricas de armas e a erradicação do analfabetismo, distribuição de terras aos camponeses e combate às oligarquias.
As atividades econômicas essenciais eram controladas pelo Estado e a balança comercial apresentava saldos favoráveis, garantindo a estabilidade da moeda, criando as condições para um desenvolvimento autossustentável, sem recorrer ao capital estrangeiro.
Solano Lópes, presidente do Paraguai a partir de 1862, inicia uma política expansionista, procurando ampliar o território paraguaio. O objetivo dessa política era conseguir acesso ao oceano Atlântico, para garantir a continuidade do desenvolvimento econômico da nação. A expansão territorial do Paraguai deu-se com a anexação de regiões da Argentina, do Uruguai e do Brasil. Ademais, a Inglaterra não via com bons olhos o desenvolvimento autônomo do Paraguai, achando necessário destruir esse modelo econômico, uma vez que tinha o interesse em manter os países latino-americanos como fornecedores de matéria-prima e consumidores dos seus produtos industrializados.
No ano de 1864, o governo paraguaio aprisionou o navio brasileiro Marquês de Olinda e invadiu o Mato Grosso, levando o Brasil a declarar guerra ao Paraguai.
Em 1865, a Inglaterra, com empréstimos financeiros e vendas de armas, estimulou a criação da Tríplice Aliança, uma união das forças brasileiras, argentinas e uruguaias contra o Paraguai.
Para o Brasil, a guerra começou após o episódio envolvendo o aprisionamento do navio brasileiro pelos paraguaios, que agiram dessa forma como uma reação à invasão brasileira ao Uruguai e a derrota do presidente Aguirre (apoiado por López).
A Guerra do Paraguai durou cinco anos, de 1865 a 1870, sendo, de certa forma, uma luta desigual, pois eram três países lutando contra um. No entanto, no primeiro ano de guerra, o Paraguai levou algumas vantagens em relação aos armamentos, vantagens essas que não conseguiram durar por muito tempo, pois seus inimigos, em especial o Brasil, ampliaram muito o seu armamento devido às compras do exterior. (Inglaterra e França).
As principais batalhas foram: a Batalha de Riachuelo e a Batalha de Tuiuti, nas quais as forças paraguaias foram derrotadas. Após a nomeação de Caxias no comando das
tropas brasileiras (no lugar do general Osório), houve sucessivas vitórias nas batalhas de Humaitá, Itororó, Avaí, Lomas Valentinas e Angostura. Solano López foi morto em 1870, na batalha de Cerro Corá.
Em torno de dois grandes rios, Uruguai e Paraguai, quatro nações dividiam fronteiras: Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. Nesse terreno, quatro contendores aplicavam-se bem em desempenhar o complicado jogo das fronteiras. Em questão, estavam, além do acesso à livre navegação da bacia platina, a hegemonia na região e os diferentes processos por que passavam os Estados nacionais envolvidos.
Embora a tríplice aliança tenha derrotado o Paraguai, pode-se afirmar que os verdadeiros vitoriosos foram a Inglaterra e a França, pois teriam muitos créditos a receber devido aos empréstimos e à venda de armas, além do que, Brasil, Argentina, Uruguai e especialmente o Paraguai passaram a enfrentar sérios problemas financeiros decorrentes dos gastos com a guerra.
Economia no Segundo Reinado
Durante o Segundo Reinado, houve uma diversificação das atividades econômicas, muito embora o modelo econômico estivesse voltado para atender as necessidades do mercado externo.
O cacau e a borracha ganharam destaque na produção agrícola. O surto da borracha (Pará e Amazonas) levou o Brasil a dominar 90% do comércio mundial.
O café foi introduzido no Brasil, por volta de 1727, por Francisco de Mello Palheta, que o trouxe da Guiana Francesa. Nesse período, o café já era apreciado na Europa, considerado um artigo de luxo. O sucesso alcançado pelo produto em Londres atingiu locais de encontro conhecidos como coffee-house
O início da produção cafeeira no Brasil ocorreu no atual estado do Rio de Janeiro. A princípio, o cultivo era feito em chácaras ou quintais, logo, porém, o café avançou para tornar-se, em meados do século XIX, o principal produto de exportação do país. A dinâmica da produção obedeceu aos padrões já existentes na economia: latifúndio, monocultura e escravismo.
As condições climáticas eram favoráveis para o desenvolvimento da cultura na região do Rio de Janeiro e, os recursos e equipamentos da atividade mineradora foram aproveitados na produção cafeeira.
Os altos custos dos transportes fizeram com que os cafeicultores fluminenses e mais tarde os paulistas, despertassem para a necessidade de construir estradas pavimentadas e seguras. A princípio, isso ocorreu através de empréstimos ingleses, e mais tarde com os próprios recursos da cafeicultura. As ferrovias tornaram-se o símbolo do progresso no Brasil.
A rápida expansão do café contribuiu para a solução da crise econômica, instaurada na economia brasileira desde o governo de D. Pedro I. Por outro lado, a excessiva con-
História 458 | PAS 2
centração da renda, nas mãos dos barões do café, dificultou o pleno desenvolvimento de outros setores produtivos de bens de consumo.
O historiador Bóris Fausto observou que “1850 não assinalou no Brasil apenas uma metade de século. Foi o ano de várias medidas que tentavam mudar a fisionomia do país, encaminhando-o para o que então se considerava modernidade.” De fato, nesse ano foram aprovadas as leis: Eusébio de Queirós e a Lei de Terras.
Oficialmente, as pressões de Londres contra o tráfico negreiro voltaram-se para o Brasil em 1810. Naquele ano, D. João comprometeu-se com o governo inglês a abolir a escravidão nas colônias portuguesas. Entretanto, apesar da dependência econômica e política em relação à Inglaterra, a política de compromisso entre o Brasil e os grandes proprietários de terras impediu uma solução imediata para a questão escravocrata, ou seja, para a substituição do trabalho escravo pelo trabalho assalariado.
A crise do escravismo brasileiro está relacionada a uma série de fatores, entre os quais, além das pressões inglesas está a expansão da atividade cafeeira, trazendo a necessidade de ampliar a força de trabalho. Com a extinção do tráfico negreiro, os fazendeiros de café tiveram que encontrar uma solução para suprir a falta de mão de obra. Essa solução foi a importação de imigrantes europeus. O pioneiro em recrutar imigrantes europeus foi um grande fazendeiro da região de Limeira, em São Paulo, o senador Nicolau de Campos Vergueiro, que trouxe para a sua fazenda famílias da Suíça e da Alemanha, iniciando o chamado sistema de parceria. O fazendeiro custeava o transporte dos imigrantes europeus até suas fazendas e estes, por sua vez, pagariam aos fazendeiros com trabalho. O trabalho consistia no cultivo do café e gêneros de subsistência, entregando ao fazendeiro boa parte da produção (dois terços). O regime de parceria não obteve sucesso, em razão dos elevados juros cobrados sobre as dívidas assumidas pelos colonos para trabalharem no Brasil, maus-tratos recebidos e o baixo preço pago pelo café cultivado. Diante do fracasso do sistema e das revoltas de colonos, outras formas de estímulo à vinda de imigrantes foram adotados. A imigração subvencionada substituiu o sistema de parcerias. Nela, o Estado pagava os custos da viagem do imigrante europeu e regulamentava as relações entre os fazendeiros e os colonos.
Os grandes “exportadores” de imigrantes foram à Itália e à Alemanha, países que passavam por guerras, em virtude do processo de unificação política.
A Lei das Terras, criada também em 1850, determinava que as terras públicas só poderiam tornar-se privadas mediante a compra. Isso significou o fim das doações pelo governo, praticadas desde a distribuição das sesmarias. A terra
transformou-se em mercadoria. Na prática, a lei garantiu à aristocracia as glebas que ocupavam, impedindo que os posseiros mais pobres estrangeiros e nacionais obtivessem a propriedade onde plantavam.
Na década de 1840, com a perspectiva do fim do tráfico negreiro, o governo brasileiro começou a interessar-se por fontes alternativas de mão de obra, encorajando a imigração de “trabalhadores pobres, moços e robustos” e tentando fixá-los nas fazendas de café. Se os imigrantes tivessem de comprar terras e os preços fossem mantidos em alta, eles seriam obrigados a trabalhar alguns anos antes de poderem comprar seu próprio lote. A Lei de Terras foi aprovada em 18 de setembro de 1850, duas semanas após a aprovação da lei contra o tráfico de escravos.
A consolidação do trabalho livre e assalariado fortaleceu o mercado interno brasileiro e criou condições para o desenvolvimento industrial. Com a extinção do tráfico negreiro e a entrada maciça de imigrantes europeus, abriu-se a possibilidade do desenvolvimento da chamada economia familiar: pequenas propriedades, voltadas para o abastecimento do mercado interno. O que contribuiu para o desenvolvimento industrial brasileiro, favorecido também pela promulgação, em 1844 da tarifa Alves Branco, que aumentou as taxas alfandegárias sobre os artigos importados. O fim do tráfico negreiro, mencionado anteriormente, foi um fator que também favoreceu o florescimento industrial, pois os capitais destinados ao comércio de escravos passaram a ser empregados em outros empreendimentos e, com a vinda dos imigrantes e da consolidação do trabalho assalariado, houve uma ampliação do mercado consumidor.
O maior destaque industrial do período foi, sem dúvida nenhuma, Irineu Evangelista de Souza, o barão de Mauá. Ele dirigiu inúmeros empreendimentos, tais como bancos, companhias de gás, companhias de navegação, estradas de ferro, fundição, fábrica de velas. No campo das comunicações, trabalhou na instalação de um cabo submarino ligando o Brasil à Europa.
O surto industrial e a chamada “Era Mauá”, entraram em crise a partir de 1860, com a tarifa Silva Ferraz, que substituiu a tarifa Alves Branco. Houve uma redução nas taxas de importação e a concorrência inglesa foi fatal para os empreendimentos de Mauá.
O progresso industrial, a importação de máquinas, as estradas de ferro, o setor bancário não foram suficientes para renovar, profundamente, as estruturas econômicas do período. Entretanto, foi significativa a ampliação do mercado interno brasileiro, que se sustentava na produção rural e no crescimento urbano do setor de serviços, do comércio e da indústria.
A expansão do café, o crescimento das cidades e a industrialização desenvolveram-se principalmente no Sudeste, que se tornou o principal centro econômico do país.
A11 y Segundo Reinado 459
EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO
01. (Fuvest SP) Observe as imagens das duas charges de Angelo Agostini publicadas no periódico Vida Fluminense. Ambas oferecem representações sobre a Guerra do Paraguai, que causaram forte impacto na opinião pública. A imagem I retrata Solano López como o “Nero do século XIX”; a imagem II figura um soldado brasileiro que retorna dos campos de batalha.
III
I. O Poder Legislativo, responsável pela elaboração de leis, compunha-se do Senado e da Câmara dos Deputados, que se reuniam na Assembleia Geral. Como pré-requisito, o candidato precisava ser brasileiro nato, católico, e possuir renda mínima de quatrocentos mil réis por ano. Para o senado exigia-se a renda de oitocentos mil réis.
II. Pela Constituição do país, em 1824, cabia ao imperador exercer o Poder Moderador, que centralizava na sua figura praticamente todas as decisões. Desta forma, as demais instâncias de poder – o Legislativo, o Executivo e o Judiciário – acabavam também por depender das inclinações do Imperador, uma vez que lhe cabia a última palavra nas resoluções do governo.

III. Com a reforma constitucional de 1881, foi abolida a renda mínima anual, como pré-requisito, para candidaturas no Senado e na Câmara dos Deputados.
IV. Esse arranjo ampliava a possibilidade da representação popular da sociedade como um todo, no âmbito do poder central, mesmo que esses cargos eletivos fossem pleiteados pelos membros com renda elevada e com mandato vitalício para Senadores.
Assinale a alternativa correta:
a) II e III
b) II e IV
c) I e II
Sobre as imagens, é correto afirmar, respectivamente:
a) Atribui um caráter redentor ao chefe da tropa paraguaia; fixa o assombro do soldado brasileiro ao constatar a persistência da opressão escravista.
b) Denuncia os efeitos da guerra entre a população brasileira; ilustra a manutenção da violência entre a população cativa.
c) Reconhece os méritos militares do general López; denota a incongruência entre o recrutamento de negros libertos e a manutenção da escravidão.
d) Personifica o culpado pelo morticínio do povo paraguaio; estimula o debate sobre o fim do trabalho escravo no Brasil.
e) Fixa atributos de barbárie ao ditador Solano López; sublinha a incompatibilidade entre o Exército e o exercício da cidadania.
02. (unB DF) A respeito do Período Regencial e do Segundo Reinado, julgue os itens:
E-C-C-C
01. A descentralização política foi característica marcante do conservadorismo que predominou durante o Período Regencial.
02. Durante o Segundo Reinado o Poder Moderador atuou em sintonia com os interesses dos partidos políticos constituídos, garantindo assim a estabilidade política.
03. O fator determinante para a expansão da lavoura cafeeira no Brasil foi o aumento do consumo do produto na Europa e nos Estados Unidos.
04. A partir de 1830 foi inaugurado no Brasil o ideal romântico, cujo ápice foi atingido na literatura por José de Alencar, com as publicações de Iracema e O Guarani.
03. (uFT TO) No ano de 1840, coroava-se D. Pedro II, imperador do Brasil.
Tinha início o Segundo Reinado, assentado no sistema parlamentarista, na economia agroexportadora e na mão de obra escrava. Todavia, o parlamentarismo – forma de governo que se caracteriza pela independência dos poderes, com ligeira superioridade do poder legislativo, exercido pelo Parlamento – apresentava algumas distorções no caso brasileiro:
d) I e IV
04. (unB DF) Da miscigenação entre povos indígenas, europeus, africanos e asiáticos é feito o Brasil. Decisiva, pois, a participação dos imigrantes na composição étnica, social e cultural do país. Os dados mostrados a seguir oferecem algumas indicações numéricas acerca da movimentação desses imigrantes.
Mais de 50 milhões de europeus – população da Itália hoje – deixaram o continente entre 1830 e 1930. Grande parte teve como destino a América do Norte mas 22% desse total foram para a América Latina, dos quais 38% eram italianos, 28% espanhóis, 11% portugueses e 3% franceses e alemães.
Dos que foram para a América Latina, 46% foram para a Argentina, 33% para o Brasil, 14% para Cuba, e o restante dividiu-se entre Uruguai, México e Chile.
História da vida privada no Brasil. S. Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 220–1 (com adaptações)
Considerando essas informações, julgue os itens seguintes.
01. Entre os fatores determinantes da grande emigração europeia de fins do século XIX, pode-se apontar o avanço da industrialização em um quadro de concentração da terra nas mãos de poucos proprietários. Boa parte do excedente de mão de obra liberado não podia ser absorvido por países de industrialização tardia, como Itália e Alemanha.
02. A emigração europeia, ao mesmo tempo em que desafogava seus países de potencial crise social, gerada pelo desemprego e pela miséria, harmonizava-se com os interesses de mão de obra de países novos, como os EUA, o Brasil e a Argentina.
03. No Brasil, todo o processo que envolvia os trabalhadores europeus que emigravam – contratação, transporte, recepção no país e encaminhamento para os locais onde iriam trabalhar – foi feito pelo Estado, o que garantiu tratamento correto e justo dos imigrantes que nada pagavam por isso.
04. Menos de 2 milhões dos imigrantes europeus que vieram para a América Latina no período de 1830 a 1930 não eram italianos, espanhóis, portugueses, franceses nem alemães.
História 460 | PAS 2
12/06/1869 11/06/1870
C-C-E-E
W REPÚBLICA DAS OLIGARQUIAS
Desde o final do período colonial, o domínio oligárquico vinha se articulando através da elite agrária brasileira, embora de forma indireta, como durante a monarquia. Nesse período, a centralização política impedia que os latifundiários se inserissem de forma plena na política.
A tensão tornou-se incontornável a partir da expansão das lavouras de café, nova fonte de riqueza do País, rumo ao oeste Paulista, e da formação de uma aristocracia cafeeira, que começou a questionar a política imperial, o que contribuiu para o advento da república.
Os governos deste período foram: Campos Sales (1898-1902), Rodrigues Alves (1902-1906), Afonso Pena (1906-1909), Nilo Peçanha (1909-1910) e Hermes da Fonseca (1910-1914). Foi a partir de Campos Sales que as oligarquias passaram a exercer o poder de forma direta, principalmente através do seu setor em ascensão, ou seja, dos grandes cafeicultores. No entanto, nesse mesmo período, também começou a crise do café, com a queda constante dos preços do produto no mercado internacional. Dessa forma, boa parte da história econômica do período pode ser sintetizada na intervenção do Estado para valorizar o café, transferindo recursos aos cafeicultores.

O ano de 1922, em especial, aglutinou uma sucessão de eventos que mudaram de forma significativa o panorama político e cultural brasileiro. A Semana de Arte Moderna, a criação do Partido Comunista Brasileiro, o movimento tenentista, a criação do Centro Dom Vital, uma associação brasileira de católicos leigos, a comemoração do centenário da Independência e a própria sucessão presidencial de 1922 foram indicadores importantes dos novos ventos que sopravam colocando em questão os padrões culturais e políticos da Primeira República.
Do ponto de vista econômico, a década de vinte foi marcada por altos e baixos. Se nos primeiros anos o declínio dos preços internacionais do café gerou efeitos graves sobre o conjunto da economia brasileira, como a alta da inflação e uma crise fiscal sem precedentes, por outro também se verificou uma significativa expansão do setor cafeeiro e das atividades a ele vinculadas. Passados os primeiros momentos de dificuldades, o país conheceu um processo de crescimento expressivo que se manteve até a Grande Depressão em 1929. A diversificação da agricultura, maior desenvolvimento das atividades industriais, a expansão de empresas já existentes e o surgimento de novos estabelecimentos ligados à indústria de base foram importantes sinais do processo de complexificação pelo qual passava a economia brasileira. Junto com essas mudanças observadas no quadro econômico, processava-se a ampliação dos setores urbanos com o crescimento das camadas médias da classe. As oligarquias eram constituídas por grandes proprietários de terra e que exerciam o monopólio do poder local. Esse período da história republicana é caracterizado pela defesa dos interesses desses grupos, particularmente da oligarquia cafeeira.
FRENTE HISTÓRIA
PAS 2
MÓDULO 12 A
TREINAMENTO PAS PrOVa iTENS 2007 2008 2009 19 2010 2011 62 2012 88 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20-21
Os grupos oligárquicos vão garantir a dominação política no país, por meio do coronelismo, do voto do cabresto, da política dos governadores e da política de valorização do café.
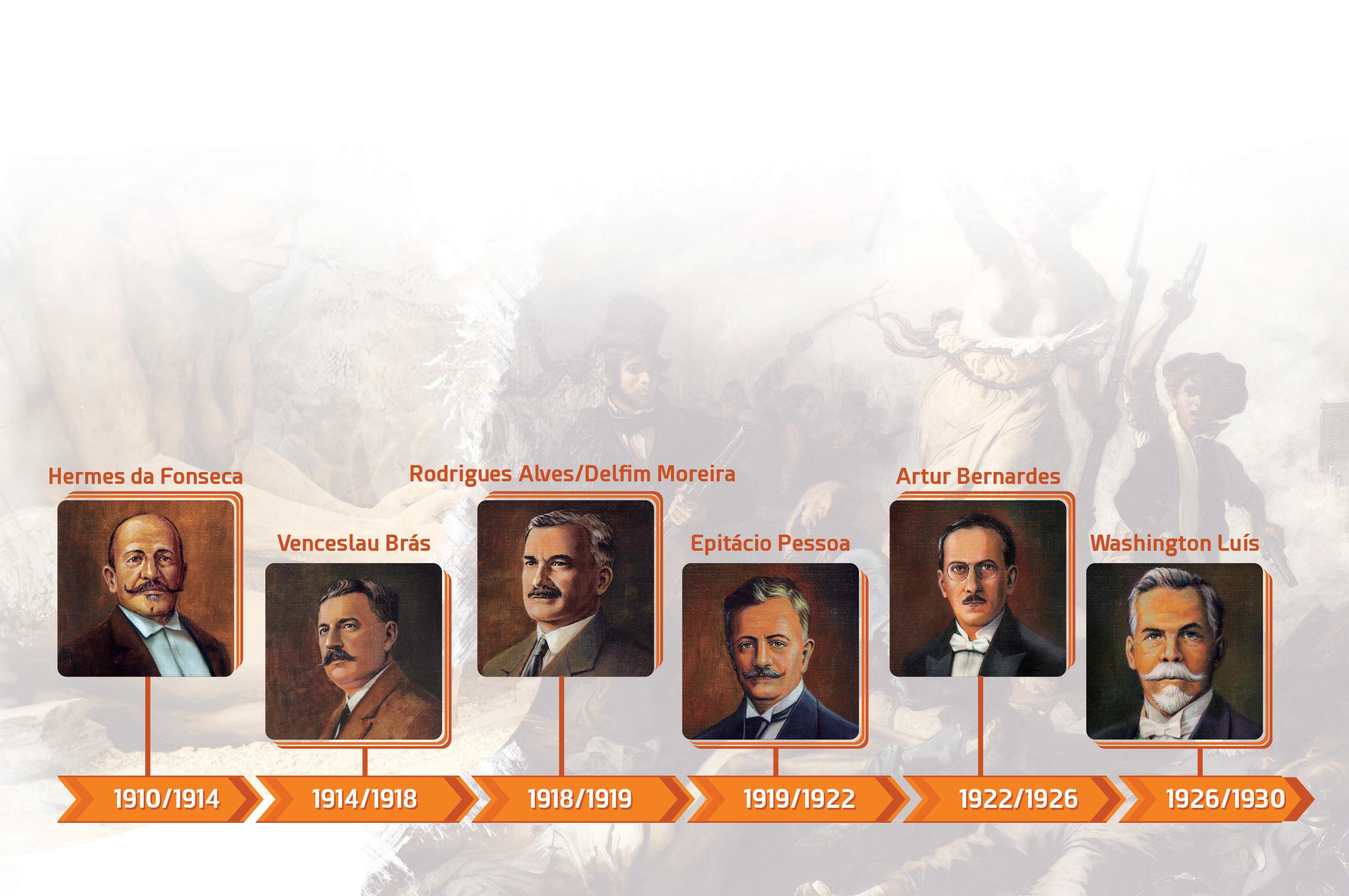
A política dos governadores
Um acordo entre os governadores dos Estados e o governo central foi firmado, de forma que os primeiros manifestavam pleno apoio ao presidente, concordaram com sua política. Em troca, o governo federal só reconheceria a vitória de deputados e senadores que representassem esses governadores. Dessa forma, o governador controlaria o poder estadual e o presidente da República não teria oposição no Congresso Nacional. O instrumento utilizado para impedir a posse dos deputados da oposição foi a Comissão Verificadora de Poderes: caso um deputado da oposição fosse eleito para o Congresso, uma comissão – constituída por membros da Câmara dos Deputados – acusando fraude eleitoral, não entregava o diploma. O candidato da oposição sofria a chamada “degola”. No entanto, para manutenção de seu domínio político, no plano estadual, sob o apoio do governo central, as oligarquias estaduais usavam das fraudes eleitorais. A política dos governadores foi iniciada na presidência de Campos Sales, e foi responsável pela implantação da chamada política do café com leite.
A política do café com leite
A política do café com leite foi o revezamento, no executivo federal, entre as oligarquias paulistas e mineiras. O
número de deputados federais era proporcional à população dos Estados. Dessa forma, os estados mais populosos –São Paulo e Minas Gerais – tinham maior número de representantes no Congresso.
Coronelismo e voto de cabresto
O sistema político da República Velha estava assentado nas fraudes eleitorais, visto que o voto não era secreto. O exercício de fraude eleitoral ficava a cargo dos “coronéis”, grandes latifundiários que controlavam o poder político local (os municípios). Exercendo um clientelismo político (troca de favores) o grande proprietário controlava toda a população (curral eleitoral), por meio do voto de cabresto.
Assim, o poder oligárquico era exercido em nível municipal pelo coronel, e nível estadual pelo governador, por meio da política do café com leite, o presidente controlava o nível federal.
A política de valorização do café
Durante a segunda metade do século XIX, até a década de 1930, no século XX, o café foi o principal produto de exportação brasileiro. As divisas provenientes de sua exportação contribuíram para o início do processo de industrialização, a partir de 1870.

Por volta de 1895, a economia cafeeira passou a mostrar sinais de crise. As causas dessa crise estavam no excesso de produção mundial. A oferta, sendo maior que a procura, acarreta uma queda nos preços, prejudicando os fazendeiros de café.
Procurando combater a crise, a burguesia cafeeira − que possuía o controle do aparelho estatal − criou mecanismos econômicos de valorização do café. Em 1906, na cidade de Taubaté, os cafeicultores criaram o Convênio de Taubaté − plano de intervenção do estado na cafeicultura, com o objetivo de promover a elevação dos preços do produto. Os governadores dos estados produtores de café (São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais) garantiam a compra de toda a produção cafeeira com o intuito de criar estoques reguladores. O governo provocaria uma falta do produto, favorecendo a alta dos preços e, em seguida, vendia o produto.
História
Figura 01 - Ensacamento do café para exportação.
Os resultados dessa política de valorização do café foram prejudiciais para a economia do País, pois para comprar toda a produção de café, os governos estaduais recorriam a empréstimos no exterior, que seriam arcados por toda a população. Além disso, caso a demanda internacional não fosse suficiente, os estoques excedentes deveriam ser queimados, causando prejuízos para o governo que já havia pago pelo produto.
Outro mecanismo da valorização do café, foi a política cambial de desvalorização do dinheiro brasileiro em relação à moeda estrangeira. Para quem dependia da exportação, no caso a burguesia cafeeira, uma política semelhante atendia seus interesses. Na hora da conversão da moeda estrangeira em moeda brasileira, não havia perdas, porém, quando se tratava de importações, visto que se importavam quase tudo no Brasil, principalmente produtos manufaturados, essa política tornava os produtos estrangeiros muito mais caros.
A política de valorização do café, de forma geral, provocou o que chamou-se de “socialização das perdas”. Os lucros ficariam com a burguesia cafeeira e as perdas seriam socializadas com a nação inteira.
Sociedade, cultura e economia na República
As novas valorizações do café
Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), o Brasil, cuja economia estava voltada para o mercado externo, sofreu imediatamente suas consequências. Não só porque, a partir de 1917, participou diretamente do conflito, mas sobretudo porque a guerra desorganizou o mercado internacional, trazendo novas dificuldades para a exportação do café, que outra vez teve o seu preço em declínio.
Essa nova situação determinou a segunda valorização do café, entre 1917 e 1920, embora menor do que a primeira, decidida no Convênio de Taubaté (1906). A crise cafeeira foi resolvida em 1918, com a geada e o fim da guerra, quando então a economia internacional retomou o seu ritmo.
A principal consequência da Primeira Guerra foi, entretanto, a alteração nas condições do comércio cafeeiro, em virtude da formação de grandes organizações financeiras que passaram a atuar, cada qual em seu setor, praticamente sem concorrência. O grupo Lazard Brothers Co. Ltda, de Londres, que apoiou a segunda valorização, estabeleceu um domínio financeiro quase completo sobre a economia cafeeira do Brasil.
Em resposta à nova situação, criou-se em São Paulo o Instituto do Café, destinado a controlar o comércio exportador do produto, regulando as entregas ao mercado e mantendo o equilíbrio entre a oferta e a procura. Como o Brasil era responsável pelo fornecimento de cerca de 60% do consumo mundial, o Instituto do Café tinha em mãos todos os recursos de que necessitava, não só para manter o preço, como também para forçar altas artificiais. O instituto, que tinha como objetivo regular o escoamento do café, transformou-se num
estocador cada vez maior do produto. Essa situação artificial não poderia ser mantida indefinidamente, pois a capacidade de estocagem estava diretamente ligada ao apoio financeiro que se obtinha no exterior. Em 1929, como veremos adiante, a crise geral do capitalismo tornou insustentável o esquema.
O processo de industrialização
Entre 1886 e 1894, a industrialização ganhou impulso, embora a sua origem fosse anterior a 1880. Contudo, o surgimento e o desenvolvimento das indústrias estiveram intimamente relacionados ao desempenho da economia primário-exportadora. Isso até a crise de 1929, quando então a economia agroexportadora foi superada pela industrialização, que passou a ocupar o centro vital da economia.

Esta não ocorreu em todo o país simultaneamente e com a mesma intensidade. O seu polo dinâmico situava-se no Sudeste, particularmente em São Paulo, onde se localizava a mais poderosa economia exportadora: a cafeicultura. Por essa razão, foi ali que a industrialização desenvolveu-se mais rapidamente. O processo de industrialização acompanhou o ritmo do setor exportador – não apenas cafeeiro. Em momentos de expansão, os investimentos industriais aumentavam, e se contraíam em momentos de retração do mercado internacional.
Até a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), o Estado não adotou nenhuma política de estímulo à industrialização. No entanto, ela era estimulada direta ou indiretamente quando o governo aumentava as tarifas alfandegárias e, sem o pretender, acabava protegendo as indústrias da concorrência estrangeira, ou quando desvalorizava a moeda nacional desestimulando as importações, ou então quando adotava as duas medidas ao mesmo tempo.
O primeiro passo no sentido da industrialização começou a acontecer no final da década de 1870, quando então a abolição da escravatura encontrava-se na ordem do dia e a solução da imigração começou a ser considerada como alternativa. Na opinião de alguns estudiosos, os industriais saíram da fileira
A12 y República das oligarquias 463
Figura 02 - Interior de uma fábrica no Brasil, em 1880.
dos cafeicultores. Estudos mais recentes, entretanto, mostraram que a burguesia industrial era constituída principalmente, embora não exclusivamente, pelos imigrantes. É o caso de Francisco Matarazzo, um de seus representantes típicos.
Os efeitos da Primeira Guerra
O primeiro efeito da guerra foi a drástica redução dos investimentos industriais. A produção começou a declinar em 1917 e o seu crescimento tornou-se negativo no ano seguinte, pela falta de matérias-primas, máquinas e equipamentos importados. A guerra, entretanto, evidenciou os limites e as inconveniências de um país destituído de um parque industrial compatível. Por esse motivo, o governo começou a adotar consciente e deliberadamente um incentivo para o desenvolvimento industrial, a fim de promover a sua diversificação. E essa atitude do governo manteve-se ao longo dos anos 20.
A crise de 29
No final dos anos 20, a economia capitalista internacional deparou-se com uma profunda crise de depressão: a crise de 29. Essa crise eclodiu nos Estados Unidos e teve importantes repercussões internacionais, atingindo, inclusive, o Brasil, quando então a economia cafeeira se desorganizou.
Nos anos que se seguiram à crise, com o apoio governamental, a industrialização se intensificou e obedeceu ao objetivo de substituir as importações. Porém, o processo de industrialização só se completaria na década de 1950, com a implantação da indústria pesada − o importante setor em que se concentram máquinas que fabricam máquinas para outras indústrias.
O movimento operário no Brasil
W O trabalhador operário
O estabelecimento do trabalho livre e o início do desenvolvimento industrial foram os motivos básicos do crescimento do trabalhador urbano. O contexto político lhe era desfavorável, pois a ordem estabelecida não reconhecia nenhum direito em relação ao seu trabalho. Os deputados e senadores, indiferentes aos problemas sociais, negaram projetos assistenciais e de proteção aos operários feitos por seus representantes.
W Organização operária
No processo de formação do operariado brasileiro, foi significativo o papel dos imigrantes italianos e espanhóis (chamados de artífices), responsáveis pela difusão do anarquismo, trazendo de seus países de origem a experiência sindical.
Os trabalhadores imigrantes formavam clubes, círculos, uniões e associações com o objetivo de conscientizar e unir os operários. O governo, sentindo-se ameaçado, decretou a lei Adolfo Gordo, em 1904, que previa a expulsão do operário estrangeiro envolvido nesses movimentos.
Apesar disso, desde o ano de 1891, foram realizadas greves, que, mesmo não tendo proporções ameaçadoras, foram duramente reprimidas.
W Os anarquistas
Por meio da organização de sindicatos, os anarquistas visavam obter o controle do mercado de trabalho. Se todos os membros de uma dada categoria profissional estivessem associados a um sindicato, os patrões não teriam alternativa senão procurar o sindicato da categoria para negociar a contratação de trabalhadores e tudo o que lhes dissesse respeito. Esse era o objetivo perseguido pelos anarquistas.
Mas os anarquistas eram avessos à centralização. Para eles, cada categoria organizada em sindicato deveria lutar no âmbito das empresas para concretizar suas reivindicações. Nada de generalizar a luta com a criação de órgãos centrais, que imporiam a cada sindicato filiado uma rígida linha de conduta. Os sindicatos deveriam desfrutar completa autonomia para que os associados pudessem decidir livremente conforme os seus interesses.
Essa situação, embaraçosa para os anarquistas – que eram contra a centralização e não davam muita importância ao Estado –, colocou uma nova ordem de problema para as quais os anarquistas não estavam preparados. Para complicar, os acontecimentos internacionais do começo do século XX estavam trazendo, por sua vez, novos desafios.
A Revolução Russa de 1917 e a Crise de 29 preocuparam a burguesia de todo o mundo. Um após outro, os países começaram a mudar de atitude em relação ao mundo do trabalho.
A burguesia tomou consciência de um fato muito simples: a exploração indiscriminada dos trabalhadores poderia levá-los, por meio de uma reação organizada, a destruir o Capitalismo.
A primeira ideia foi “racionalizar” o trabalho. Mas isso não significava abolir a exploração do trabalhador. Queria dizer, simplesmente, explorar de maneira eficiente, obedecendo a certos limites, evitando, por exemplo, que os trabalhadores fossem atirados à mais negra miséria e se tornassem sensíveis aos apelos do Comunismo.
Para amenizar “a miséria e as privações” dos trabalhadores, já havia sido criada, logo depois da Primeira Guerra Mundial, a Organização Internacional do Trabalho (OIT).
A legislação trabalhista – O Brasil não ficou fora dessa tendência mundial. Em 1918, a Câmara dos Deputados criou a Comissão de Legislação Social, encarregada de redigir leis específicas de “proteção” aos trabalhadores. Entre essas leis, incluíam-se as de acidente de trabalho e de férias remuneradas.
Dessa forma os anarquistas caíam em um dilema, porque, por um lado, ser contra as concessões do Estado era o mesmo que se afastar dos trabalhadores, ao passo que aceitar e defender uma legislação trabalhista era o mesmo que admitir o Estado como um interlocutor válido e, com isso, deixar de ser anarquista.
História 464 | PAS 2
W Os comunistas
Fundado em 1922, o Partido Comunista do Brasil apareceu como produto imediato da vitoriosa Revolução Bolchevique na Rússia. Como tal, era favorável à transformação da luta econômica em luta política, defendia a centralização e, em vez da extinção do Estado, tinha como meta a tomada do Estado e a instalação da “ditadura do proletariado”. Ou seja, os comunistas defendiam tudo aquilo que os anarquistas condenavam. Eles não viam problema algum em aceitar uma legislação trabalhista e, inclusive, em lutar para que o Estado adotasse uma.
O Tenentismo
W Origens da crise dos anos 20
Na década de 1920 teve início uma grave crise política eclodia no Brasil. A sua origem situava-se na crescente insatisfação do Exército e das camadas médias urbanas, ao mesmo tempo em que surgiam tensões no seio da própria camada dominante.
Os militares que haviam se afastado da vida política depois do governo Floriano reapareceram na campanha presidencial de 1909. Nessa campanha, a cúpula militar aliou-se à oligarquia gaúcha.
W A Reação Republicana
A crise política reapareceu, entretanto, em 1922, nas eleições para a sucessão de Epitácio Pessoa, quando Minas e São Paulo resolveram a questão indicando Artur Bernardes (mineiro) para a presidência e já acertando a candidatura de Washington Luís (paulista) como sucessor de Bernardes.
Contra esse arranjo político, uniram-se os seguintes estados: Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro − nessa ordem em termos de importância eleitoral. Formava-se assim a Reação Republicana, que apresentou Nilo Peçanha como candidato e opositor de Bernardes, o candidato do “café com leite”. Novamente, o Exército inclinou-se para a oposição, contra a oligarquia dominante. As disputas acirradas criaram um clima de grande tensão, agravada pela publicação, no jornal Correio da Manhã, de uma carta, falsamente atribuída a Artur Bernardes, ofensiva aos militares.
Todavia, as eleições foram vencidas por Artur Bernardes. Finalmente, as frustrações longamente acumuladas eclodiram: no dia 5 de julho de 1922, jovens oficiais do forte de Copacabana se rebelaram, com apoio das guarnições do Distrito Federal, Rio de Janeiro e Mato Grosso. O objetivo era impedir a posse de Artur Bernardes. Embora a rebelião tenha fracassado, os jovens militares resolveram abandonar o forte e marchar pela praia de Copacabana para enfrentar as forças legalistas. Desse episódio, conhecido como os 18 do Forte, sobreviveram apenas os tenentes Siqueira Campos e Eduardo Gomes. Iniciou-se aí o longo episódio de rebelião a que se chamou Tenentismo.

W As revoltas tenentistas
O descontentamento contra a oligarquia dominante atingiu o auge com as revoltas tenentistas, que tiveram dois focos principais: o Rio Grande do Sul (1923) e São Paulo (1924). No Rio Grande do Sul, a revolta tenentista teve o imediato apoio da dissidência oligárquica da Aliança Libertadora e dirigiu-se para Santa Catarina e Paraná. Em São Paulo, a revolta foi desencadeada sob a chefia do general Isidoro Dias Lopes, que, não podendo suportar as pressões das tropas legalistas, dirigiu-se para o Sul, encontrando-se com as tropas gaúchas, lideradas por Luís Carlos Prestes e Mário Fagundes Varela.
A união das duas tropas rebeldes levou à organização do movimento. Os principais nomes do levante foram: Juarez Távora, Miguel Costa, Siqueira Campos, Cordeiro de Farias e Luís Carlos Prestes. Este último, mais tarde, desligou-se do movimento para ingressar no Partido Comunista do Brasil, tornando-se o seu chefe principal.
Formou-se assim, em 1925, a Coluna Prestes, que durante dois anos percorreu cerca de 25 000 km, obtendo várias vitórias contra as forças legalistas. Inutilmente procurou sublevar as populações do interior contra Bernardes e a oligarquia dominante. Com o fim do mandato de Artur Bernardes, em 1927, a Coluna entrou na Bolívia e, finalmente, se dissolveu.
W O programa de ação dos tenentes
Além da deposição do presidente Artur Bernardes, os tenentes reivindicavam o voto secreto, eleições honestas, castigo para os políticos corruptos e liberdade para os oficiais presos em 1922. Acreditavam que esse programa teria apoio da população do sertão.
O percurso da Coluna Prestes, originalmente chamada de Coluna Miguel Costa-Prestes, durou 25 meses, enfrentando as tropas federais e os jagunços dos coronéis. A população que os tenentes pensavam defender reagia ora com indiferença ora com hostilidade.
Ideologicamente, os tenentes eram conservadores, não propunham mudanças significativas para a estrutura social brasileira. Defendiam um reformismo social ingênuo misturado com muita centralização política e nacionalismo.
A12 y República das oligarquias 465
Figura 03 - Tenentes marchando em Copacabana.
W Tendências da arte no século XX
O início da Primeira Guerra Mundial abriu um longo ciclo de crises para o capitalismo. Embora a crise não estivesse sendo percebida pela maioria da população, no plano da arte, ela já era anunciada. De fato, a plena consciência da crise só ocorreria em 1929, com a quebra da Bolsa de Nova York.
No plano da arte, a crise do capitalismo correspondeu à vigorosa crítica ao Impressionismo, o que resultou numa mudança radical da tendência artística. Representado por pintores franceses como Renoir, Monet e Manet, foi a culminância de uma evolução artística iniciada no Renascimento (século XV). Pinturas e desenhos em três dimensões (altura, largura e profundidade), tão comuns entre nós, foram estabelecidos pelos artistas do Renascimento. Esse espaço pictórico renascentista persistiu até o século XIX.
A nova arte, pós-impressionista, como o Cubismo, Construtivismo, Futurismo, Expressionismo, Dadaísmo e Surrealismo, foi a mais radical das transformações artísticas, pois representou uma ruptura com a tradição renascentista.
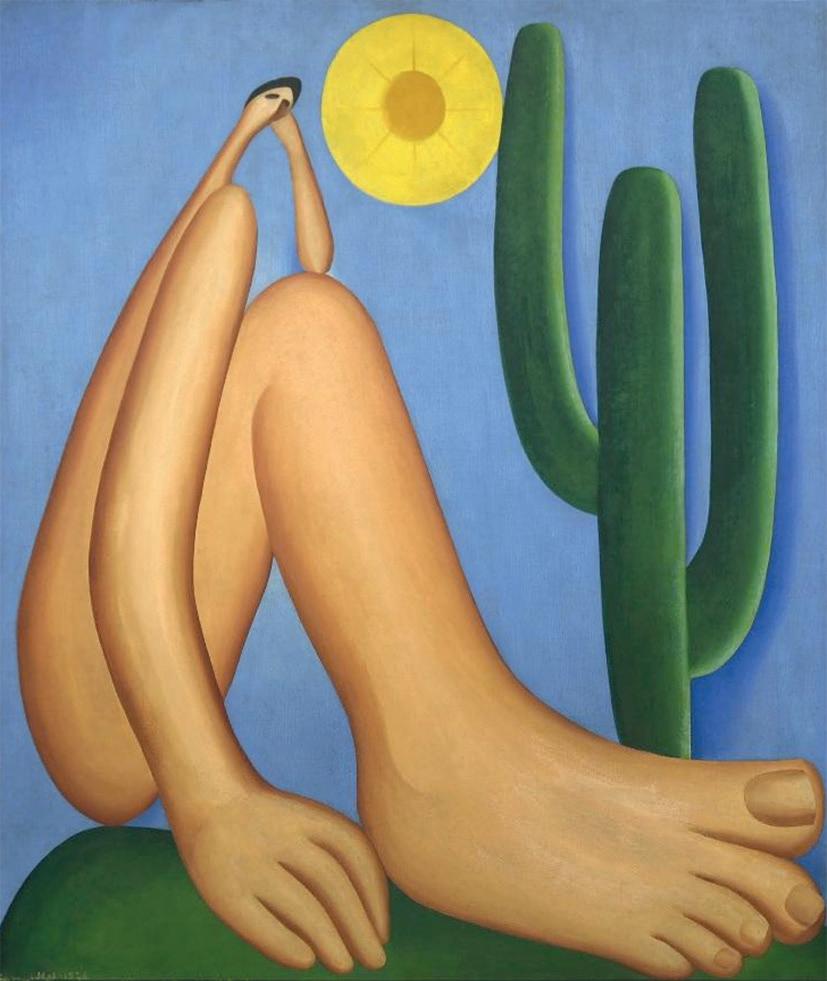
W Situação no Brasil
No Brasil, o rompimento com a estética tradicional deu-se em 1922, com a Semana de Arte Moderna - o Modernismo. O movimento modernista correspondeu às profundas transformações por que passava a sociedade brasileira, na qual a tradicional oligarquia agrária era ainda dominante, apesar do surto industrial e urbano que, aos poucos, colocava em xeque esse domínio. Nesse quadro, o movimento representou o mais radical esforço de atualização da linguagem, procurando dar conta da nova
realidade que se estava implantando. Foi precisamente esse contexto que sensibilizou a nova elite intelectual em formação para as revoluções estéticas que estavam ocorrendo na Europa. Os novos ideais estéticos que o Modernismo pôs em circulação em 1922 foram introduzidos no Brasil no período imediatamente anterior à Primeira Guerra. Os contatos entre intelectuais e artistas brasileiros e europeus intensificaram-se nesse período.
W Preparação do movimento
Apesar da incorporação de valores estéticos que iniciaram sua vigência na Europa pós-impressionista, de modo algum o modernismo brasileiro pode ser reduzido à mera cópia do modelo europeu.
E isso, precisamente, porque o movimento de 1922 não foi apenas uma revolução estética, mas sobretudo uma importante mudança de atitude mental. Nesse sentido, tomar o partido da nova estética tinha, em verdade, um significado político, pois era voltar-se contra a arte tradicional – representada pelo Parnasianismo e pelo Simbolismo –, que estava comprometida com a ordem social em via de superação e que a nova concepção artística veio combater.
É curioso notar que as várias correntes de vanguarda em que se desdobrou a reação anti-impressionista não eram conhecidas, cada qual em sua peculiaridade. O que se chamou de Futurismo, nesse período, tinha um sentido desestabilizador da arte bem-comportada e acadêmica, e não um conjunto coerente de princípios estéticos. Em nome do Futurismo, rejeitou-se toda regra a que estava submetido o fazer artístico, de modo que a sua importância histórica reside, precisamente, na denúncia das convenções artísticas alheias à realidade.
W Modernismo e tendências ideológicas
Em seguida ao lançamento da Semana de Arte Moderna, apareceram revistas críticas que procuraram dar ao movimento uma feição teórica. Assim, em maio de 1922, surgiu a revista Klaxon, mensário de arte moderna, e em setembro de 1924 saiu a revista Estética. Todavia, ambas tiveram vida curta: Klaxon conseguiu publicar nove números e Estética apenas três.
Na Estética, a oposição era entre a arte engajada e a arte pela arte. À medida que as implicações estéticas do Modernismo foram se explicitando, o campo de debate foi se ampliando, e as reflexões estéticas conduziram os modernistas a posições ideológicas que, em seguida, os dividiram em tendências contraditórias. Da “redescoberta” do Brasil surgiram o primitivismo de Oswald de Andrade (Revista de Antropofagia, 1928), mas também o nacionalismo verde-amarelo (1926) de Cassiano Ricardo e o Grupo Anta (1927), neoindianista, de Plínio Salgado. Ao mesmo tempo, formou-se um grupo em torno da revista Festa (1927), reunindo os “espiritualistas”, como Tasso da Silveira, que retomaram a tradição simbolista. Assim, mesmo tendo as mesmas origens no que diz respeito ao movimento artístico, o Modernismo não chegou propriamente a se definir ideologicamente. No geral, persistiu a hesitação, com exceção do Grupo Anta de Plínio Salgado, que aderiu explicitamente ao fascismo.
História 466 | PAS 2 A Semana de Arte Moderna (1922)
Figura 04 - Abaporu – Tarsila do Amaral.
EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO
01. (unB DF) Acerca do quadro político brasileiro na República Velha, em particular do período iniciado com o governo de Prudente de Morais, julgue os itens que se seguem. C-C-E-C
01. Promulgada em 1891, a primeira Constituição republicana do Brasil, com nítida influência do modelo norte-americano, instituiu um federalismo que, na prática, se mostrou bastante desigual, dividindo politicamente os estados em grupos de primeira e de segunda classe.
02. A política dos estados (ou dos governadores) acabou por conferir indiscutível primazia política aos dois estados economicamente mais poderosos da Federação – São Paulo e Minas Gerais.
03. A política do café com leite, predominante até 1930, não sofreu maiores abalos ao longo de sua existência. As crises, geralmente superficiais, eram abafadas sem muito desgaste e não se refletiam nas eleições presidenciais.
04. Durante essa fase da história do Brasil, foi visível o esforço do Rio Grande do Sul em assumir o comando político do país, o que efetivamente conseguiu por meio de ruptura institucional – a Revolução de 1930.
03. (uFu MG) Observe o trecho abaixo:
O plano geral da cidade, de relevo acidentado e repontado de áreas pantanosas, constituía obstáculo permanente à edificação de prédios e residências que, desde pelo menos 1882, não acompanhavam a demanda sempre crescente dos habitantes. A insalubridade da capital, foco endêmico de varíola, tuberculose, febre tifoide, lepra, escarlatina e sobretudo da terrível febre amarela, já era tristemente lendária nos tempos áureos do Segundo Reinado, sendo o Rio de Janeiro cantado por um poeta alemão como “a terra da morte diária/Túmulo insaciável do estrangeiro.
SEVCENKO, Nicolau. Literatura como missão. São Paulo: Brasiliense, 1995. p. 52. No excerto, é relatado o triste cenário do Rio de Janeiro nos anos iniciais da Primeira República, agravado pela crise sanitária que assolou a cidade e também por outros aspectos da vida social, entre eles, a economia. Com base nesse contexto, é correto dizer que a crise econômica derivou da
a) política de desenvolvimento focada na formação da indústria de base, desprestigiando a indústria de bens de consumo.
b) política monetária, que propiciou o aumento de moeda no mercado e a facilidade na criação de sociedades anônimas.
c) queda drástica da produção cafeeira, que diminuiu o fluxo das exportações e impulsionou o desemprego nos campos.
d) política protecionista do governo federal, que visava investir no capital nacional, o qual ainda era incipiente e incapaz de fomentar a industrialização.
Fonte: AMARAL, Tarsila do. A Gare. 1925. Disponível em: http://artesplasticasbrasileiras.arteblog.com.br/r16325/ Imagens/Acesso em: 09/12/2013.
Tarsila do Amaral foi uma das principais artistas plásticas do movimento modernista brasileiro. Como pode-se observar na pintura acima, a cidade de São Paulo teve importância no desenvolvimento do setor industrial brasileiro devido à
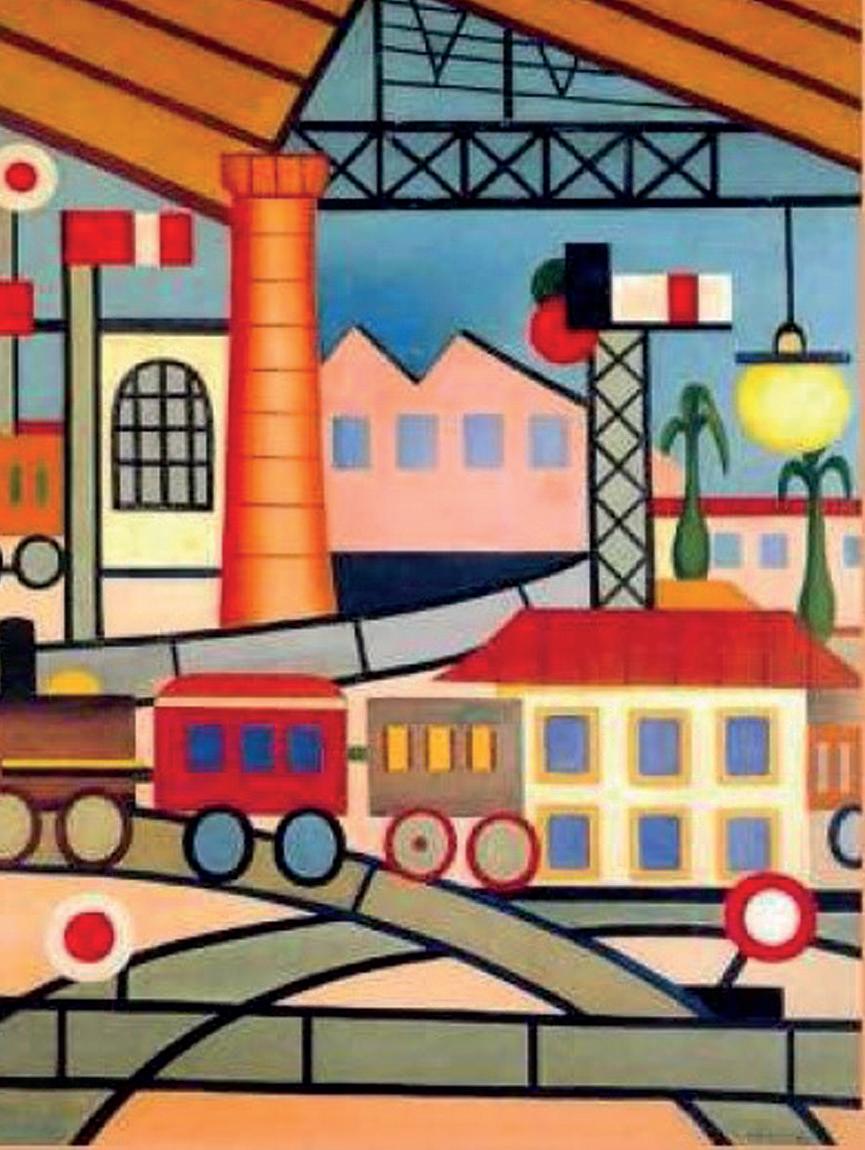
a) estagnação dos índices demográficos.
b) fragilização das oligarquias cafeeiras.
c) queda do comércio de mercadorias.
d) diminuição das migrações internas.
e) ampliação do transporte ferroviário.
Produzida no contexto da implantação da ordem republicana no Brasil, essa imagem
a) caracteriza representação cívica inspirada na Revolução Francesa, adequada ao projeto democrático estabelecido pelos republicanos brasileiros.
b) faz uso alegórico de um tema clássico para expressar o repúdio à exclusão da participação feminina nas instituições políticas do Império.
c) é uma alegoria da liberdade, da pátria e da nação, que contrasta com os limites da cidadania na nova ordem brasileira.
d) emprega símbolo católico como estratégia para obter a adesão da Igreja e diminuir a animosidade dos movimentos messiânicos.
e) é expressão artística do projeto positivista de divulgar uma concepção da sociedade brasileira sintonizada com os ideais de eugenia.

A12 y República das oligarquias 467
02. (uFT TO)
04. (Fuvest SP)
Décio Villares, A República (Museu Republicano, RJ, ca 1900)
A01 - Iluminismo e Revolução Industrial
01 E-C-C-E
02 c 03 a 04 b
05 a) Segundo o texto, antes da Revolução Industrial, o passado era visto como um modelo e os velhos representavam a sabedoria e a experiência. Depois da Revolução Industrial, a experiência perdeu importância, porque o que caracteriza cada geração não é mais a sua semelhança com a anterior, mas a sua novidade.
b) A Revolução Industrial dos séculos XVIII e XIX, entre outras transformações, mecanizou a produção, levando à perda do controle por parte do trabalho sobre o processo de trabalho. Isso foi o fim do artesanato como sistema de produção predominante e deu origem ao sistema fabril.
A02 - Revolução Francesa
01 a 02 b 03 d 04 e 05 b
06 a) A leitura do gráfico indica que os custos com a produção e com os impostos representavam 65% da colheita realizada pelos camponeses. Desta forma, o usufruto do menor percentual da colheita disponível às pessoas do campo significava a existência de precárias condições de vida para as famílias numerosas, sendo que a miséria e a fome eram riscos constantes no período prérevolucionário.
b) A questão solicitava o estabelecimento da relação entre a crise econômica e o Terceiro Estado (burgueses, camponeses, sans-culottes, profissionais liberais) durante a Revolução Francesa. Os custos dos impostos e a manutenção de um grupo de privilegiados (nobreza e clero) uniram o Terceiro Estado em sua insatisfação contra o regime vigente. A conjuntura de endividamento público e a ineficiência de medidas contra a crise levaram à convocação dos Estados Gerais e fizeram com que as reivindicações do Terceiro Estado entrassem na pauta política francesa. A pobreza foi instrumentalizada pela burguesia, que se incomodava com a ausência de mobilidade social e exigia o fim do sistema de privilégios e o estabelecimento de igualdade jurídica.
A03 - Congresso de Viena, revoluções liberais europeias e ideias sociais do século XIX
pública de Weimar, pela fragilidade trazida pelo Tratado de Versalhes e mesmo pelo surgimento das milícias paramilitares.
b) O Tratado de Versalhes, assinado entre a Alemanha e os países vencedores da Primeira Guerra Mundial, estabelecia a “Paz Imposta” (não negociada), segundo a qual a Alemanha perdeu soberania sobre o seu território, foi desmilitarizada e obriga da a pagar pesadas indenizações.
A05 - Independência na América Latina
b
06 O candidato deverá ser capaz de identificar e explicar dois dos movimentos sociais listados na questão, explicitando os seus proponentes, as suas características principais e as suas principais propostas, críticas e ações.
A04 - Imperialismo e Primeira Guerra Mundial
01 E-E-E-C
02 a 03 b 04 d
05 a) A República de Weimar refere -se ao período democrático, de regime parlamentar-republicano da Alemanha entre 1918 e 1933, de grande efervescência cultural. O candidato poderia mencionar que a ascensão do nazismo ao poder, foi facilitada pelo fraco controle das forças militares e policiais por parte do governo durante a Re-
A06 - África: reinos africanos, colonialismo e
A07 - A transferência da Corte portuguesa para o Brasil
468
GABARITO HISTÓRIA / PAS2
01 d 02 a 03 b 04 c 05
01 a 02 b 03 c 04 d 05 a
resistência 01 e 02 b 03 d 04 e 05 11 06 b 07 03 08 a 09 b 10 d 11 e
01 a 02 a 03 c 04 d
- Independência do Brasil 01 E-E-C-C 02 b 03 b 04 a 05 c A09 - Primeiro Reinado 01 C-E-C-E 02 a 03 a 04 b A10 - Período Regencial 01 C-E-C-C-C 02 c 03 c 04 e A11 - Segundo Reinado 01 d 02 E-C-C-C 03 c 04 C-C-E-E A12 - República das oligarquias 01 C-C-E-C 02 e 03 b 04 c
A08