

BRASIL TERRA INDÍGENA
SETEMBRO DE 2025
VOLUME 49, EDIÇÃO 3
DIRETORIA
PRESIDENTE
Kaimana Barcarse (Kanaka Hawai’i)
VICE-PRESIDENTE
John King
TESOUREIRO
Steven Heim
SECRETÁRIA
Nicole Friederichs
Marcus Briggs-Cloud (Maskoke)
Keith Doxater (Oneida)
Kate R. Finn (Osage)
Laura Graham
Richard A. Grounds (Yuchi/Seminole)
Lyla June Johnston (Diné/Tsétsêhéstâhese)
Stephen Marks
Mrinalini Rai (Rai)
Jannie Staffansson (Saami)
Stella Tamang (Tamang)
FUNDADORES
David & Pia Maybury-Lewis
Sede da Cultural Survival 2067 Massachusetts Ave. Cambridge, MA 02140 t 617.441.5400 f 617.441.5417 www.cs.org
Cultural Survival Quarterly
Editora Gerente: Agnes Portalewska
Editora de artes: Phoebe Farris (Powhatan-Pamunkey)
Editor de texto: Jenn Goodman
Tradutores: Carmem Cazaubon, Thais Pelosi
Design: Pablo Xol
Copyright 2025 por Cultural Survival, Inc. Cultural Survival Quarterly (ISSN 0740-3291) é publicado trimestralmente pela Cultural Survival, Inc. em PO Box 381569, Cambridge, MA 02238. Postagem paga em Boston, MA 02205 e outros escritórios postais. Postmaster: Envie mudanças de endereço para Cultural Survival, PO Box 381569, Cambridge, MA 02238. Impresso em papel reciclado nos EUA. Observe que as opiniões expressas nesta revista são dos autores e não representam necessariamente as opiniões da Cultural Survival.
Diretrizes para Escritores
Consulte as diretrizes para autores em nosso site (www.cs.org) ou envie um envelope selado e endereçado para: Cultural Survival, Writer’s Guidelines, PO Box 381569, Cambridge, MA 02238.
Na Capa: Líderes Indígenas de diferentes comunidades da Bahia durante protestos na cidade de Salvador, Brasil. Foto de Joa_Souza.
MANTENHA-SE CONECTADO


Pág 14
DESTAQUES

Pág 16
14 Brasil Terra Indígena
Edson Krenak (Krenak)
16 Sineia do Vale
Da atuação de base para a vicepresidência do Caucus Indígena Internacional para a COP30 no Brasil.
18 Defendendo a saúde Indígena
Edson Krenak (Krenak) Entrevista com Weibe Tapeba (Tapeba).
20 Herança Viva
Newiwe Top’Tiro (Xavante), Aptsi’ré Waro Juruna (Juruna/Xavante), e Roiti Metuktire (Kayapó/Mebengôkre/ Juruna)
O legado dos líderes Indígenas através das vozes de seus descendentes.
SEÇÕES
1 Mensagem da Diretora Executiva
2 Nas Notícias
4 Artes Indígenas
Cannupa Hanska Luger (Mandan, Hidatsa, Arikara, Lakota)
6 Reportagem Especial
Defensores da Água Indígenas no Equador Enfrentam Gigante da Mineração Canadense
10 Direitos em Ação
A Lei Nacional da Guatemala Não é Desculpa para Ignorar os Direitos Humanos

Pág 18

Pág 20
23 A luta ancestral das Retomadas
O chefe Nailton Pataxó (Pataxó) liderou o povo Pataxó Hã Hã Hãe na recuperação de suas terras.
24 O poder da hospitalidade radical no enfrentamento da destruição no Vale do Jequitinhonha
Um diálogo com Cleonice
Pankararu Pataxó (Pataxó) e Ângela Maria Martins de Souza (Quilombola).
25 As plantas são vida, saúde e conhecimento Carmem Cazaubon
Destaque para o jovem bolsista Indígena João Felipe Yawanawá da Silva (Yawanawá).
12 Mudanças Climáticas Todo o Gelo Derrete
26 Destaque do Parceiro Grant do Fundo Guardiões da Terra Rede de Mulheres e Jovens Koibatek Ogiek
28 Destaque da Equipe Nushpi Quilla Mayhuey Alancay (Quechua Kolla)
29 Artista do Bazaar
Elizabeth Durzano (Kichwa Cafari) & Coletivo Warmi Muyu

www.cs.org
Doadores como você tornam nosso trabalho em todo o mundo possível. Muito obrigado por fazer parte da Cultural Survival!



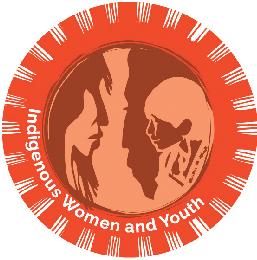

Brasil Terra Indígena
Halito akana (Olá amigxs),
Enquanto o mundo volta sua atenção para Belém do Pará, Brasil, sede da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC COP30) e lar de muitos Povos Indígenas, incluindo Munduruku, Xipaya, Parakanã, Xikrin, Mebêngôkre, Tupinambá, entre outros, estamos refletindo sobre as origens da Cultural Survival. Nas décadas de 1950 e 60, os fundadores da Cultural Survival, David e Pia Maybury-Lewis, trabalhavam com os Povos Xavante e Xerente na remota savana do Mato Grosso, Brasil. Eles testemunharam a “abertura” do Interior Brasileiro e das regiões amazônicas e os efeitos devastadores sobre as comunidades Indígenas e queriam “testemunhar uma ameaça genocida, conscientizar o mundo sobre esse processo de destruição e tentar detê-lo”. Em 1972, David e Pia, junto com colegas de Harvard, Evon Vogt, Jr. e Orlando Patterson, iniciaram a Cultural Survival com o objetivo de arrecadar dinheiro para projetos de apoio aos Povos Xavante. Hoje, sua missão fundamental é poderosamente amplificada através da Cultural Survival como uma organização liderada por Indígenas com 50 funcionários em 19 países, trabalhando em solidariedade com os Povos Indígenas ao redor do mundo.

direitos, incluindo a falta de demarcação, disputas sobre territórios e novas legislações e marcos jurídicos, como o “Marco Temporal”, que minam direitos conquistados e a gestão tradicional dos territórios. Enquanto isso, Povos Indígenas continuam enfrentando violência ligada a conflitos territoriais, desmatamento e mineração. Nosso colega, Edson Krenak (Krenak), escreve mais sobre essas questões em seu artigo de destaque, “O Brasil é Terra Indígena.”
Sede da Cúpula da Terra de 1992, onde nasceram a UNFCCC, a Convenção sobre Diversidade Biológica e a Convenção de Combate à Desertificação, o Brasil desempenhou um papel fundamental na diplomacia ambiental internacional. À medida que o mundo fica para trás em seus compromissos de limitar as mudanças climáticas, o Brasil tem uma oportunidade e responsabilidade única de liderar o mundo na promoção de caminhos justos e equitativos para alcançar os objetivos do Acordo de Paris, por meio do Programa de Trabalho sobre Transição Justa da UNFCCC. Para ter sucesso, isso deve incluir a proteção dos direitos dos Povos Indígenas, a salvaguarda dos ecossistemas, e proteções explícitas contra atividades destrutivas realizadas em nome da “transição verde.”
EQUIPE DA CULTURAL SURVIVAL
Aimee Roberson (Choctaw & Chickasaw), Diretora Executiva
Mark Camp, Diretor Executivo Adjunto Avexnim Cojtí (Maya K’iche’), Diretora de Programas
Verónica Aguilar (Mixtec), Associada de Programas,Guardiões Da Terra Edison Andrango (KichwaOtavalo), Assistente do Programa de Rádio sobre Direitos Indígenas
Mishelle Calle, Assistente do Programa Bazaar
Carmem Cazaubon, Assistente do Programa de Capacitação
Miguel Cuc Bixcul (Maya Kaqchikel), Associado de Contabilidade
Jess Cherofsky, Gerente do Programa de Advocacia
Geovany Cunampio Salazar (Emberá), Coordenador de Advocacia no Panamá
Michelle de León, Coordenadora de Subsídios
Roberto De La Cruz Martínez (Binnizá), Associado de Tecnologia da Informação
Danielle DeLuca, Gerente Sênior de Desenvolvimento
Georges Theodore Dougnon (Dogon), Assistente do Programa de Capacitação
David Favreau, Assistente de Logística e Operações
Shaldon Ferris (Khoisan), Coordenador do Programa
Rádio Indígena
Sofia Flynn, Gerente de Contabilidade e Escritório
Nati Garcia (Maya Mam), Gerente de Capacitação
Cesar Gomez Moscut (Pocomam), Coordenador do Programa de Mídia Comunitária
Byron Tenesaca Guaman (Kañari Kichwa), Coordenador de Bolsas
Alison Guzman, Coordenadora de Relações com Doadores
Emma Hahn, Associada de Desenvolvimento
Belen Iñiguez, Assistente de Distribuição de Publicações
Natalia Jones, Coordenadora de Advocacia
Mariana Kiimi (Na Ñuu Sàvi/Mixtec), Associada de Advocacia
Dev Kumar Sunuwar (Koĩts-Sunuwar), Coordenadora do Programa de Mídia Comunitária
Rosy Sul González (Kaqchikel), Gerente do Programa de Rádio sobre Direitos Indígenas
Marco Lara, Coordenador de Mídia Social e Digital
Kevin Alexander Larrea, Associado de Tecnologia da Informação
No entanto, embora líderes, comunidades e aliados Indígenas trabalhem incansavelmente para garantir e defender os direitos dos Povos Indígenas, com importantes conquistas ao nível internacional e em alguns países, esses povos ainda enfrentam realidades duras, já que seus direitos continuam sendo ignorados e enfraquecidos. Enquanto testemunhamos um retrocesso global do multilateralismo e uma ascensão de regimes autoritários, governos e corporações em todo o mundo correm para desenvolver e extrair recursos de territórios Indígenas. Esta edição do CSQ (Cultural Survival Quarterly) traz nosso foco de volta ao Brasil e às vozes de líderes Indígenas que trabalham para transformar os direitos Indígenas em realidade. A integridade e a biodiversidade das florestas tropicais e de outros ecossistemas do Brasil são cuidadas por mais de 300 Povos Indígenas, que falam mais de 270 línguas e dialetos, cujas contribuições para a saúde da Mãe Terra são essenciais para a sobrevivência da humanidade e de toda a estrutura da vida. Os Povos Indígenas lutaram com sucesso para que seus direitos à terra, modos de vida culturais e autonomia fossem protegidos na Constituição Federal do Brasil. No entanto, persistem barreiras à implementação desses
A Cultural Survival estará presente na COP30 para acompanhar as negociações e amplificar as vozes Indígenas que estão iluminando questões críticas e pressionando governos a fazer o que é certo. Junte-se a nós em nossos esforços para apoiar e elevar as vozes dos Povos Indígenas, que preservam sistemas de conhecimento, línguas e modos de vida, e estão liderando o caminho rumo à cura e à construção de um futuro sustentável para a Mãe Terra e para todos nós, por gerações futuras. Contribua com a nossa causa em www.cs.org/donate
Hטchi yakoke li hoke (Muito obrigado a todos vocês),
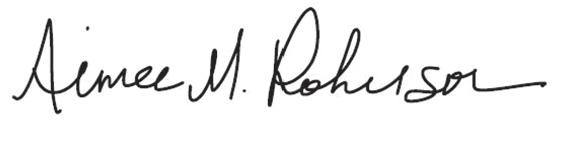
Aimee Roberson (Choctaw e Chickasaw), Diretora Executiva
Maya Chipana Lazzaro (Quechua), Coordenadora de Vendedores do Bazar
Jamie Malcolm-Brown, Gerente de Comunicações e Tecnologia da Informação
Candela Macarena Palacios, Assistente Executiva Ñushpi Quilla Mayhuay Alancay (Quechua/Kolla), Coordenadora de Advocacia
Edson Krenak Naknanuk (Krenak), Líder no Brasil
Diana Pastor (Maya K’iche’), Coordenadora de Mídia Guadalupe Pastrana (Nahua), Produtora de Rádio dos Direitos Indígenas
Camila Paz Romero (Quechua), Assistente do Programa Guadiões Da Terra
Ilenia Perez (Guna), Coordenadora de Advocacia no Panamá
Agnes Portalewska, Gerente Sênior de Comunicação
Tia-Alexi Roberts (Narragansett), Assistente Editorial e de Comunicação
Elvia Rodriguez (Mixtec), Assistente do Programa de Mídia Comunitária
Mariana Rodriguez Osorio, Assistente Executiva
Carlos Sopprani, Associada de Recursos Humanos
Thaís Soares Pellosi, Assistente Executiva
Abigail Sosa Pimentel, Assistente de Recursos Humanos
Candyce Testa (Pequot), Gerente de Eventos do Bazar
Sócrates Vásquez (Ayuujk), Gerente de Programa
Mídia Comunitária
Miranda Vitello, Coordenadora de Desenvolvimento
Candy Williams, Gerente de Recursos Humanos
Pablo Xol (Maya Qʼeqchiʼ), Associado de Design e Marketing
ESTAGIÁRIOS
Candela Biset, Mirabel Ashu, Daniel Chindoy, Esénia Bañuelos, Lucas Kasosi, Sabina Candusso, Diego Nervi, Diana Martinez
NAS NOTÍCIAS

No Nepal, o Supremo Tribunal ordenou o alinhamento das leis nacionais com a Convenção 169 da OIT e a UNDRIP.
Austrália | Rio Tinto concede aos proprietários tradicionais controle sobre a mineração
JUNHO
A Rio Tinto assinou um acordo histórico de cogestão com a PKKP Aboriginal Corporation, concedendo aos proprietários tradicionais autoridade legal sobre as decisões de mineração em suas terras, estabelecendo novos padrões industriais para a proteção do patrimônio cultural e a responsabilidade corporativa.
Ilhas do Pacífico | Nações melanésias propõem reserva oceânica liderada por Indígenas
JUNHO
As Ilhas Salomão e Vanuatu lançaram um plano para criar a Reserva Oceânica Melanésia, a primeira reserva oceânica liderada por Indígenas do mundo, com mais de 6 milhões de quilômetros quadrados.
Índia | Comunidades Indígenas suspendem projeto solar de US$ 434 milhões em Assam
JUNHO
O Banco Asiático de Desenvolvimento cancelou um parque solar de US$ 434 milhões em Assam após protestos das comunidades Karbi, Naga e Adivasi. O projeto ameaçava 20.000 famílias e violava proteções constitucionais à terra e protocolos de FPIC.
Canadá/Índia | UNESCO nomeia copresidentes Indígenas
JUNHO
A UNESCO nomeou Amy Parent (Nisga’a), do Canadá, e Sonajharia Minz (Oraon), da Índia, como copresidentes de uma nova cátedra de pesquisa sobre conhecimento Indígena. Seu foco inclui revitalizar
línguas Indígenas ameaçadas de extinção, promover a soberania de dados e vincular o conhecimento ecológico tradicional à resiliência climática por meio da rematriação e da governança de pesquisa com base cultural.
Finlândia | Reforma da autogovernança Sami aprovada
JUNHO
Após 14 anos de atrasos, a Finlândia aprovou uma grande reforma da Lei do Parlamento Sami, fortalecendo a autogovernança Indígena ao vincular a elegibilidade dos eleitores à herança linguística Sami e exigir consultas ao Estado.
Indonésia | Condenação do projeto agrícola de Merauke por deslocar comunidades
Indígenas
JUNHO
A ONU condenou o projeto agrícola de Merauke, na Indonésia, por deslocar mais de 50.000 Indígenas papuanos, desmatar 109.000 hectares sem consentimento e usar intimidação militar.
Nepal | Decisão da Suprema Corte determina o cumprimento integral dos tratados de direitos Indígenas
JUNHO
Em uma decisão histórica que estabelece um novo precedente legal para a soberania Indígena no sul da Ásia, a Suprema Corte do Nepal ordenou que o governo alinhe as leis nacionais com a Convenção 169 da OIT e a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas.
Colômbia | Decisão protege comunidades amazônicas da poluição por mercúrio
JULHO
O Tribunal Constitucional da Colômbia ordenou a suspensão de novas licenças de mineração de ouro na região de Yuruparí, após decidir que a poluição por mercúrio ameaça a saúde, os sistemas alimentares e a sobrevivência cultural de 30 comunidades Indígenas. O tribunal determinou ações urgentes do governo, a participação dos Indígenas e a cooperação internacional para restaurar os rios contaminados e defender os direitos ancestrais.
EUA | Tribo Yurok recupera
17.000 acres em acordo histórico de devolução de terras
JUNHO
No maior acordo de devolução de terras da Califórnia, a tribo Yurok recuperou 17.000 acres ao longo do rio Klamath, completando um esforço de restauração de 47.000 acres. As terras recuperadas, incluindo o sagrado Blue Creek, serão administradas como um santuário de salmões e floresta.
Colômbia | Decisão histórica contra a poluição por mercúrio
JULHO
O Tribunal Constitucional da Colômbia decidiu a favor de 30 comunidades Indígenas da Amazônia, ordenando a suspensão de novas minerações de ouro em Yuruparí devido à contaminação por mercúrio. A decisão marca um precedente histórico para a justiça ambiental e a proteção do conhecimento ancestral.
Américas | Estados obrigados a proteger o direito humano a um clima estável
JULHO
Em 3 de julho, a Corte Interamericana de Direitos Humanos decidiu que os Estados e as empresas têm obrigações vinculativas sob o direito internacional de tratar a crise climática como uma emergência de direitos humanos.
Equador | Novo projeto de lei ameaça os direitos Indígenas
JULHO
Grupos Indígenas e aliados pedem a rejeição do projeto de lei proposto pelo Equador para privatizar áreas protegidas, o que excluiria a consulta aos Indígenas e colocaria em risco terras ancestrais e comunidades isoladas.
Tailândia | Lei histórica protege modos de vida Indígenas
AGOSTO
A Tailândia aprovou o projeto de lei sobre a proteção e promoção do modo de vida dos grupos étnicos para salvaguardar os direitos, tradições e práticas culturais das comunidades Indígenas e étnicas.
Foto de Dev Kumar Sunuwar.
ATUALIZAÇÕES SOBRE A DEFENSA DE CAUSAS
Equador: Ministério do Meio Ambiente extinto

JULHO
Em 24 de julho, o presidente equator no Daniel Noboa assinou o Decreto Executivo nº 60 para extinguir o Ministério do Meio Ambiente, Água e Transição Ecológica e fundi-lo com o Ministério de Energia e Minas. A medida foi tomada como parte da implementação do Plano de Eficiência Administrativa, uma medida de austeridade que visa modernizar o Estado por meio da extinção de outros ministérios e da demissão em massa de funcionários públicos. A medida afirma os interesses extrativistas em detrimento da proteção do meio ambiente e da vida dos Povos Indígenas, promovendo atividades de mineração que já estão consumindo e contaminando excessivamente a água e a biodiversidade local, afetando a saúde de milhares de pessoas.
Brasil: Projeto de lei enfraquece proteções para reservas naturais e territórios Indígenas demarcados

Em 17 de julho, o Congresso Federal brasileiro aprovou por maioria o Projeto de Lei 2.159/2021, ou como os Povos Indígenas o chamam, PL da Devastação. O projeto visa desmantelar o licenciamento ambiental, levando à desregulamentação e ao enfraquecimento das proteções, especialmente para os territórios Indígenas. Até 32% das terras Indígenas e 80% dos territórios quilombolas com processos de demarcação em aberto serão afetados, além dos Povos Indígenas em isolamento voluntário. Projetos considerados como tendo impactos socioambientais indiretos poderão avançar sem o Consentimento Livre, Prévio e Informado dos Povos Indígenas. Eles também podem comprometer outros direitos sobre suas terras, territórios e recursos. A responsabilidade corporativa pode ser reduzida pela renovação de licenças sem condições, desencorajando a responsabilidade por reparações e comprometendo os padrões de due diligence. Regulamentações ambientais mais flexíveis também trazem o risco de ocupação predatória, o que aumentará a poluição e o desmatamento. Como o Brasil sediará a COP30 em setembro, o projeto de lei desacredita sua liderança ambiental e enfraquece as possibilidades de defesa dos Povos Indígenas e governança climática.
Bolívia: CERD insta ao cumprimento dos direitos de consulta

Em junho, a Comunidade Totoral Chico, parte do Ayllu Acre Antequera, rejeitou uma consulta fraudulenta para a assinatura de um contrato de mineração pela La Salvada Mining Company, exigindo o cumprimento das recomendações do CERD. Em novembro de 2023, a Cultural Survival e a organização parceira boliviana Qhana Pukara Kurmi
O Programa de Defesa da Cultural Survival lança campanhas internacionais em apoio aos movimentos Indígenas de base, que pressionam governos e empresas a respeitar, proteger e cumprir os direitos de suas comunidades.
apresentaram um relatório alternativo sobre a situação dos direitos Indígenas ao Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial (CERD). Em suas observações finais, o CERD expressou sua preocupação com as alegações de violação do direito constitucional à consulta prévia no Ayllu Acre Antequera e, em suas recomendações ao Estado boliviano, enfatizou o direito à consulta e ao consentimento.
Nepal: Cultural Survival e parceiros apresentam relatório à Revisão Periódica Universal JULHO

A Cultural Survival, juntamente com seis organizações parceiras do Nepal, apresentou um relatório alternativo para a avaliação do Nepal na 51ª Sessão do processo de Revisão Periódica Universal. Os Povos Indígenas do Nepal continuam a enfrentar discriminação sistêmica, apesar de constituírem uma parte significativa da população e serem reconhecidos na Constituição. Eles são excluídos dos processos de tomada de decisão e estão severamente sub-representados na governança, enquanto suas perspectivas e línguas não são representadas no sistema educacional e suas tradições são criminalizadas. Os Povos Indígenas também enfrentam exclusão na implementação de políticas de mudança climática e violação de seu direito ao Consentimento Livre, Prévio e Informado em projetos de desenvolvimento em grande escala, levando à expropriação de terras e maior marginalização.
Panamá: Povos Indígenas Enfrentam Repressão Após se Oporem a Novas Reformas Legislativas

Desde o final de abril, em meio a uma onda de movimentos sociais que rejeitam várias reformas legislativas impostas pelo Estado, incluindo a reabertura da mineração metálica e acordos com potências estrangeiras que afetariam a soberania do país, os Povos Indígenas têm sido mais uma vez alvo de violência institucional desproporcional que viola seus direitos. Os povos Ngäbe-Buglé e Emberá sofreram uma escalada da repressão em suas comunidades, incluindo buscas arbitrárias, detenções sem o devido processo legal e uso excessivo da força. O governo panamenho violou inúmeras normas internacionais, incluindo a suspensão temporária do habeas corpus na província de Bocas del Toro. A Cultural Survival reafirma que o protesto social não é crime e que os Povos Indígenas têm o direito de se manifestar livremente quando seus territórios, autonomias, culturas e vidas estão em perigo.
Leia mais notícias em www.cs.org/latest.
JULHO
ABRIL
JULHO
QUANDO O SILÊNCIO FALA MAIS ALTO
CANNUPA
HANSKA LUGER FALA SOBRE ARTE, ANCESTRALIDADE E AÇÃO

Vista da instalação de “Cannupa Hanska Luger: Speechless”, de 13 de fevereiro a 6 de julho de 2025. Museu de Arte Nasher da Universidade Duke, Carolina do Norte.
Por Tia-Alexi Roberts (NARRAGANSETT, EQUIPE CS)
Cannupa Hanska Luger (Mandan, Hidatsa, Arikara e Lakota), um artista radicado no Novo México, cria obras poderosas na intersecção entre a memória ancestral e a visão do futuro. Através da escultura, da performance e da instalação, Luger explora a identidade Indígena do século XXI utilizando práticas baseadas na terra, ficção especulativa e colaboração comunitária. Luger é bolsista Eiteljorg 2025, vencedor do prêmio Ourworlds 2025 e vencedor do prêmio Herb Alpert 2024, além de já ter recebido bolsas da Fundação Guggenheim, da United States Artists e outras instituições. Seu trabalho já foi exibido no Whitney Museum of American Art e no Metropolitan Museum of Art, em Nova York, no Crystal Bridges Museum of Art, em Bentonville, Arkansas, e internacionalmente nos Emirados Árabes Unidos, Xangai e Zurique. Alguns de seus trabalhos anteriores incluem “GIFT (2023–24)”, uma crítica específica ao colonialismo; “Sweet Land (2020)”, uma ópera que confronta narrativas de colonizadores; “Every One (2018)”, um memorial às mulheres, meninas e pessoas bissexuais Indígenas desaparecidas e assassinadas; e o “Mirror Shield Project (2016)”, que apoia a resistência em Standing Rock. Seu trabalho está exposto
na National Gallery of Art em Washington, D.C., e no Los Angeles County Museum of Art, entre outras instituições. A Cultural Survival conversou recentemente com Luger para discutir as ideias e inspirações por trás de seu trabalho.

Cultural Survival: Que desafios você enfrentou como artista Indígena quando começou sua carreira?
Cannupa Hanska Luger: Como Indígenas, temos o obstáculo histórico de fazermos parte da antiguidade. Tentar criar uma ferramenta útil no âmbito de nossa experiência no século XXI e no futuro — essa é a conversa mais relevante para mim, mas não era necessariamente o que interessava ao mercado quando comecei a trabalhar. Muito disso vem apenas de estar ciente do que minha mãe vivenciou na indústria da arte Indígena e questionar se isso continua sendo relevante e por que é relevante. Acho que muitos desafios vêm de uma população com a mente cheia de narrativas míticas e/ou falsas sobre nossa cultura e população.
CS: Como a conexão com seus ancestrais influencia seu trabalho?
CHL: Há uma consciência de que não sou maior do que qualquer outro ser vivo aqui e, na verdade, em uma linha temporal, estou apenas pegando emprestado o ar que respiro, a água que bebo e o espaço que habito. Estou pegando emprestado não apenas do meio ambiente, mas também das gerações futuras. E o privilégio disso se deve inteiramente ao que meus ancestrais fizeram para estar aqui — os sacrifícios feitos, os horrores suportados, as glórias celebradas — tudo isso faz parte do que significa estar vivo atualmente para qualquer pessoa.
CS: Como você vê seu trabalho no contexto mais amplo da arte Indígena contemporânea?
CHL: Existe um pouco mais de pressão do que, digamos, meus colegas europeus-americanos podem enfrentar. Eu atuo na área de arte contemporânea, e ter acesso a ela é uma batalha árdua travada por gerações. A parte da minha prática voltada para o público precisa ser digna de elogios por parte da minha comunidade, e isso torna-a desafiante, mas esse desafio é uma dádiva.
Todas
Foto de Joel Johnson. Imagem cortesia do Museu de Arte Nasher da Universidade Duke.
A comunidade Indígena não tem medo de chamar a atenção para as nossas falhas. Em vez de isso ser desgastante, vejo-o simplesmente como uma dádiva. Que outro grupo cultural ou outras comunidades têm esse tipo de acesso às suas relações?
Somos centenas de culturas, grupos linguísticos, danças e cerimônias diferentes. Há coisas que nos conectam com certeza, mas há coisas que nos separam pela terra de onde se vem. Acho importante ter essas conversas, porque na esfera pública do cânone da arte americana, agora que estamos ganhando exposição nesses espaços, acho que temos que amplificar o fato de que não somos um monolito.
CS: O título da sua exposição, “Speechless” (Sem palavras), convida a reflexões poderosas sobre comunicação. Como esse tema aparece na exposição?
CHL: A exposição “Speechless” foi construída a partir de uma questão que eu tinha em relação ao acesso e privilégio que tenho em espaços institucionais. Comecei a me sentir como um símbolo de virtude para as instituições americanas. Comecei a sentir que não estava sendo ouvido. Então, “Speechless” foi tipo, sabe de uma coisa? Não importa se você é um símbolo de virtude para a instituição, porque no fim das contas, e se eu for um exemplo da própria virtude? Não para a instituição mostrar com o que se importava em 2024-2025, mas o que as gerações futuras verão no cânone histórico da arte. Você pode proporcionar a elas consciência e acesso. Não se trata tanto do que você diz, mas do fato de estar se comunicando.
A forma como tentei enfatizar isso foi através destas enormes colunas de som que parecem emitir um som tremendo, mas das quais não sai nenhum som. É uma exposição silenciosa e os motivos visuais que estão nas colunas de som são um tema recorrente de “morda sua língua”. Vários dos pratos de cerâmica têm este motivo incrustado neles. Enquanto fazia isso, pensava nas bases da Segunda
“Wealth” (Riqueza), 2023, de Cannupa Hanska Luger. Cerâmica, cabelo sintético, lata de munição, aço e tendão artificial.
Wendy McEahern, cortesia do artista e da Galeria Garth Greenan.
Guerra Mundial que estavam sendo construídas em ilhas remotas do Pacífico e na África. À medida que as forças armadas chegavam, lançavam paraquedistas e cargas nesses locais e erguiam torres de rádio. As populações Indígenas que viviam nessas terras estavam cientes de tudo o que estava acontecendo e, em algum momento, construíram suas próprias torres de rádio simbólicas e imitaram algumas das marchas como se fossem danças. O olhar antropológico ocidental estava voltado para a trajetória dos “povos primitivos”, maravilhando-se com nossas tecnologias.
CS: Como obras como “The Keep” e “The TIPI [Infraestrutura Transportável de Proteção Intergeracional]” simbolizam a complexa relação entre os Povos Indígenas e os poderes coloniais?
CHL: Eu sou das Planícies do Norte, e usamos tipis em ambos os lados da minha família. Sempre lutei contra o fato de o tipi ser uma dessas formas estereotipadas. Sempre que trabalho com o tipi como forma, há sempre um pouco de hesitação ou um certo desconforto interno, como se estivesse reforçando essa narrativa ao trabalhar com essa forma. Mas, no final das contas, um tipi é uma nave espacial. Ele viaja pelo espaço e fornece abrigo para seus habitantes. É também uma infraestrutura de transporte nômade, o que é totalmente contrário ao modelo colonial de possuir, dominar e explorar. Colocar uma tipi em um museu… eu gosto de colocá-las nesses espaços porque elas são uma lente visual para uma mensagem importante: que o que é verdadeiro no universo é verdadeiro aqui na Terra. Elas são literalmente uma ilustração científica da lente do cosmos. Acho que há muita tecnologia Indígena valiosa incorporada na tipi como forma.
CS: Que tipo de conversas você espera suscitar com seu trabalho?
CHL: Por um lado, gosto da interpretação do meu trabalho pelo meu público. Se ele for entendido apenas como aquilo para que o criei, sinto que, de alguma forma, falhei como artista. Mas se eu puder apresentá-lo de uma forma que permita às pessoas imaginarem de maneira diferente ou questionarem até mesmo algumas de suas próprias ideias e preferências internas, então sinto que foi um sucesso. Além da interpretação da minha intenção, estou mais interessado na interpretação deles. Não tenho acesso à maioria das pessoas que passam pelo museu e têm um momento de reflexão, então, por favor, não deixe que seja só o que eu penso. O que você pensa é mais honesto, porque eu não estou lá. Você está lá, você está vivenciando isso, e eu não posso realmente influenciar isso. Mas posso aceitar, e na aceitação acho que há uma grande recompensa.

“Joint Chiefs of Staff (verso)”, 2023, de Cannupa Hanska Luger. Cerâmica, aço, couro, pele, abeto, caixas de som reutilizadas, armários militares reutilizados, cabelo sintético, vidro soprado à mão e tinta.

Foto de
Foto de Wendy McEahern, cortesia do artista e da Garth Greenan Gallery.
DEFENSORES DA ÁGUA INDÍGENAS NO ECUADOR
Enfrentam gigante canadense da mineração


Em frente à entrada da Dundee Precious Metals, a polícia exige que todos voltem para o veículo. Embora se trate de uma via pública, a polícia ordena que o grupo de Indígenas locais se retire.
Por Brandi Morin (CREE/IRIQUOIS)
Anévoa matinal envolve as colinas onduladas do páramo de Kimsakocha enquanto uma dúzia de defensores da água se aproxima da cerca de arame que marca a entrada do que pode se tornar a próxima grande mina de ouro, cobre e prata do Equador. A deslumbrante paisagem de alta altitude ao norte de Cuenca, na província de Azuay, no Equador, abriga quatro rios que convergem e fluem pelos vales, alimentando fazendas, vilarejos e a cidade abaixo.
“Esta é nossa terra ancestral. Temos o direito de estar aqui”, diz Hortencia Zhagüi, representante da Escola de Agroecologia das Mulheres de Kimsakocha, enquanto passa por um segurança. O guarda grita advertências sobre invasão de propriedade, mas o grupo segue em frente sem se intimidar, seus passos quase inaudíveis contra o musgo macio sob seus pés.
Os defensores da água caminham vários quilômetros enquanto o segurança os segue à distância, gravando cada movimento. Eles finalmente chegam a uma pequena clareira onde uma bandeira equatoriana que instalaram meses antes ainda tremula orgulhosamente com a brisa da montanha. O panorama é de tirar o fôlego — colinas esmeraldas ondulantes que se estendem até o horizonte, a terra esponjosa com umidade, pequenos riachos serpenteando pelo terreno e água borbulhando do musgo sob seus pés.
“Olhe para isso”, diz Koldo, membro de um grupo de base chamado Sistemas Comunitários de Água de
Tarqui e Victoria del Portete, ajoelhando-se para colher um punhado de bagas de um arbusto baixo. “O páramo nos dá remédios, comida e, o mais importante, água. Como eles podem colocar um preço nisso?”
O grupo estende cobertores no chão e organiza seu piquenique com batatas, queijo, milho, frango e frutas cultivados localmente, compartilhando tudo em comunidade à sombra de sua bandeira. Enquanto comem, discutem estratégias para proteger esse ecossistema da empresa de mineração canadense Dundee Precious Metals, que planeja desenvolver a mina de ouro subterrânea Loma Larga aqui.
“Já dissemos não três vezes”, diz Koldo. “Em 2011, 2019 e 2021, realizamos consultas. Em todas as vezes, nossa resposta foi clara: nada de mineração em nosso páramo. No entanto, eles continuam tentando levar adiante esse projeto.”
Após a refeição, o grupo fica em silêncio por um momento, contemplando a paisagem que lutam para proteger há mais de duas décadas. Em seguida, eles começam a caminhada de volta para a entrada, parando em um pequeno riacho que corta o musgo. Eles dão as mãos em um círculo, inclinando a cabeça em uma cerimônia pedindo proteção para este lugar sagrado. Sua oração é interrompida pelo som de um caminhão se aproximando. Dois policiais saem do veículo e ordenam que o grupo saia imediatamente. “Vocês estão invadindo propriedade privada”, anuncia um policial com firmeza.
Os defensores da água obedecem, mas sem pressa. Eles recolhem seus pertences com uma calma deliberada, ocasionalmente parando para comentar entre si sobre
plantas ou características da água enquanto caminham. A polícia e o segurança os seguem de perto, escoltando-os até o portão.
A Cultural Survival fez várias tentativas para entrar em contato com a Dundee Precious Metals para comentar sobre esta história, incluindo uma visita pessoal ao escritório da empresa em Cuenca, mas os pedidos de entrevista foram recusados. A Dundee Precious Metals não abordou publicamente as preocupações levantadas pelos membros da comunidade.
Uma bomba-relógio
O que esses defensores da água estão combatendo não é uma ameaça pequena. De acordo com uma análise independente de 2022, a mina de ouro proposta em Loma Larga representa uma “bomba-relógio” para a contaminação por arsênico na região. O páramo de Kimsakocha, um ecossistema de pântanos de alta altitude, desempenha um papel crucial no fornecimento de água potável para toda a região, incluindo a cidade de Cuenca. Zhagüi, que também representa o Conselho de Administradores de Água Potável, um grupo comunitário dedicado à preservação da água limpa, explica a profunda conexão entre as comunidades e esta terra. “Este pantanal sustenta nossas comunidades há gerações”, diz ela. “A água que brota daqui flui para nossas plantações, nossos animais e nossas casas. Sem água limpa, não temos nada — nem comida, nem saúde, nem futuro.”
Em outubro de 2024, Zhagüi fez parte de uma delegação de mulheres Indígenas equatorianas e defensoras dos direitos humanos que viajou ao Canadá para expressar suas preocupações sobre as negociações comerciais em andamento entre os dois países. Durante reuniões com autoridades governamentais, parlamentares e líderes Indígenas em Toronto, Ottawa e Montreal, ela alertou sobre o impacto devastador que a mina de ouro proposta teria.
Durante a viagem, ela disse: “Viemos ao Canadá para nos manifestar contra o acordo de livre comércio entre Canadá e Equador, dada a falta de respeito pela vida, pelos frágeis ecossistemas da natureza e pelos seres que dependem deles no Equador. O acordo de livre comércio abriria as portas para a mineração descontrolada, o que

causaria uma destruição ambiental maciça, afetando ecossistemas sensíveis e esgotando fontes de água que protegemos há 30 anos”.
Apesar das sérias preocupações levantadas no Canadá, o projeto Loma Larga continua a ser promovido por ambos os governos.
O guardião da água
Logo acima do vale montanhoso atrás da casa de Zhagüi em Tarqui, Equador, fontes de água fresca fluem para a aldeia — água que poderia ser contaminada se a mineração começasse no páramo.
Aos 65 anos, Zhagüi passou a vida cultivando alimentos e criando animais nesta terra que sustenta sua família há gerações. “Eu trabalho na agricultura, na pecuária, e crio pequenos animais. Tenho algumas batatas plantadas lá em cima. Também cultivo cevada e aveia”, diz ela. Apontando orgulhosamente para sua horta, ela acrescenta: “Tenho cenoura, alface, couve-flor, rabanete, aipo, repolho, todos os vegetais. Aqui, quando você planta, tudo cresce”.

Bandeira hasteada pelas comunidades locais para pedir ao governo equatoriano que proteja o local.
Canto inferior direito: A comunidade se reúne em torno de um pequeno rio para agradecer à Terra e reunir forças para continuar a luta pela preservação da água e do páramo. Canto inferior esquerdo: A Dundee Precious Metals impede o acesso ao páramo sem o consentimento da população local. No passado, os moradores locais tinham acesso irrestrito, pois a lei equatoriana protegia a área como reserva natural.

RELATÓRIO ESPECIAL



Esquerda: Comendo a tradicional pambamesa, uma refeição comunitária.
Centro: Um portão de tela metálica bloqueia o acesso a este ecossistema no meio do páramo. Um guarda insiste que o grupo volte.
Direita: Suzana, defensora do páramo e da água, colhe mirtilos silvestres.
Dentro de sua modesta cozinha, depois de servir uma refeição de cuy (porquinho-da-índia) assado, canja de galinha e vegetais de sua horta, Zhagüi senta-se à sua mesa de madeira, com os olhos brilhando de lágrimas de tristeza e determinação, enquanto descreve o trabalho diário que sua vida exige e a batalha interminável para defender seu modo de vida.
“É muito difícil porque você tem que cavar, remover a grama, fertilizar, preparar o fertilizante. Por exemplo, acordo todas as manhãs às 5h para ordenhar o gado. Dar água e grama para o gado, cortar e jogar aveia se preciso e mover o gado quando necessário — eu faço tudo isso. É uma luta contínua para nós — precisamos de água para nossas tarefas diárias na fazenda”, explica ela.
Como representante da Escola de Agroecologia Feminina Kimsakocha e do Conselho de Administradores de Água Potável de Victoria del Portete e Tarqui, Zhagüi está na vanguarda da resistência contra projetos de mineração há décadas. Sua voz falha ao falar das ameaças à sua terra natal. “Nunca me cansarei de dizer que temos uma vida muito difícil, muito dura. Antes, vivíamos bem e em paz, nunca imaginávamos que enfrentaríamos esse problema. Esse problema não é só meu; ele afeta todas as comunidades que dependem das fontes de água que se originam aqui em QuimsaCocha.”
Ela diz que a visita ao Canadá foi decepcionante. “Eles não nos levaram em consideração. Eles ouviram, mas alegaram ter apresentado uma perspectiva diferente, na qual, para eles, nossos páramos eram apenas montanhas secas, tornando a exploração mais justificável.” Sua voz se eleva com indignação. “Então, foi para nós, especialmente para mim, ultrajante ouvir tal absurdo, que não é verdade, como você pode ver — esses páramos são vida para nós; eles são nossa natureza. A humanidade e a vida não têm valor para essas empresas quando elas querem explorar.”
Apesar das múltiplas consultas comunitárias que rejeitaram a mineração na região, a pressão das empresas e do governo continua. “Tentamos tudo o que podíamos”, diz Zhagüi, com lágrimas escorrendo pelo rosto. “Fomos à capital e fizemos tudo ao nosso alcance, mas não há como detê-los. Eles continuam em direção à extração. Os governos equatoriano e canadense apoiam as mineradoras, enquanto ficamos mais fracos diante dessa situação. É por isso que dizemos: a única coisa que nos resta é nos
render — mas preferimos morrer primeiro. É tudo o que esperamos agora; não há mais nada a ser feito.”
A luta criou divisões profundas em comunidades que antes eram unidas. “Já existe divisão entre nossas comunidades, nossos vizinhos. Estamos completamente divididos, porque [alguns] apoiam [a mineração]”, explica ela. “Eles afirmam que nada [de ruim] vai acontecer, que a extração será feita com alta tecnologia. Isso foi dito: nada vai acontecer, então não há motivo para temer. É por isso que estou desesperada — resta tão pouco tempo. Eles estão apenas esperando o momento oportuno para começar a extração.”
Zhagüi não acredita nessas garantias. “Aqueles que apoiam a mineração não estão do nosso lado. É claro que eles sentirão as consequências quando a água começar a ser contaminada e as doenças surgirem. Mas para nós, que não apoiamos a mineração, é uma situação muito desesperadora.”
A determinação de Zhagüi em resistir permanece inabalável, mesmo diante da possibilidade de violência. “Em nossa luta para resistir, não aceitaremos pacificamente que [as empresas de mineração] entrem e explorem nossa terra. Não! Temos que lutar, mesmo que seja usando pedras como arma, para nos defendermos. Não podemos simplesmente aceitá-los.”
Zhagüi está plenamente consciente do que pode acontecer quando as empresas de mineração passarem da exploração para a extração. “Como as empresas de mineração precisarão de eletricidade, elas terão que ampliar as estradas. Nesse momento, elas começarão a extração, trazendo máquinas pesadas. Nesse exato momento, temos que ser firmes e não permitir que elas entrem.”
As consequências podem ser terríveis. “Eles nos farão prisioneiros. Eles nos matarão, porque atiram balas diretamente no corpo. Já vimos isso durante a fase de exploração”, diz Zhagüi, com a voz quase sussurrando. “Imagine o que a extração trará — para nós, a única opção que restará será resistir. Não vamos desistir. Devemos dar nossas vidas, é nisso que acredito. É a única coisa que nos resta.”
Apesar dessa perspectiva sombria, Zhagüi expressa gratidão por aqueles que se solidarizam com sua luta.
“Agradeço que ainda existam pessoas no mundo que se solidarizam, lutando por aqueles que não têm voz. Vivemos longe, não podemos alcançar o governo, estamos na periferia, mas continuamos lutando.”
À medida que a luz da tarde se desvanece em seu jardim, Zhagüi aponta para as montanhas onde a água começa sua jornada até sua casa. Sua voz treme de emoção. “É triste. É lamentável que, em 30 anos de luta, não tenhamos conseguido resolver nada. Não podemos ter paz, nem ser livres, nem finalmente declarar que nossa terra e nossos páramos estão completamente a salvo da mineração, intocáveis e livres da exploração.”
A parte mais dolorosa é a sensação de que o tempo está se esgotando. Mas mesmo em seu desespero, Zhagüi encontra alguma esperança na fé. “Espero que, com a vontade de Deus, isso nunca aconteça. É por isso que digo que Deus vem em primeiro lugar. E depois de Deus, nós, como seres humanos, devemos encontrar forças para enfrentar essa situação.”
Ao relembrar um recente avistamento de equipamentos de mineração, sua voz falha novamente. “Outro dia, máquinas pesadas chegaram a Zamora. Ficamos com medo e desesperadas. Ver aquelas máquinas enormes e caminhões gigantescos trafegando por essas estradas foi avassalador. Em nosso desespero, começamos a perguntar: ‘O que faremos agora?’”
Para Zhagüi e muitas outras mulheres da comunidade, a luta é profundamente pessoal. “Essa é a nossa luta, o nosso sofrimento — especialmente para nós, mulheres e mães. Estamos na linha de frente, vivendo diariamente com nossas mãos na água.”
Tensões crescentes: violência contra defensores da água
Não muito longe da casa de Zhagüi mora Fanny Paute, uma agricultora de 62 anos que personifica o custo humano crescente dessa luta ambiental. Sentada à mesa da cozinha, com o rosto ainda visivelmente machucado, Paute relata um recente ataque violento que sofreu por se opor ao projeto de mineração. “Essa luta já dura cerca de 30 anos”, explica ela, com a voz embargada e lágrimas nos olhos. “Estamos lutando pela água todo esse tempo.”
Em 6 de março, enquanto verificava seus animais no campo, Paute diz que encontrou uma mulher conhecida localmente como “Miss Minera” — um apelido dado aos moradores que apoiam o projeto de mineração. Esse encontro casual rapidamente se intensificou. “Saí para ver um bichinho que tenho e fui com minha nora”, lembra Paute, tocando as marcas descoloridas em seu rosto. “Vimos essa senhora... já a conhecemos, sabemos que ela é mineradora.”
O que aconteceu a seguir ainda a assombra. Após uma breve interação que levou a polícia ao local, Paute voltou para o seu campo depois que os policiais foram embora. Foi quando ela foi repentinamente atacada por um grupo de mulheres pró-mineração. “Fomos atacadas, espancadas. Como você pode ver, meu rosto ainda está machucado”, diz ela, com lágrimas escorrendo pelo rosto. “Elas nos
insultaram com palavras duras. Pegaram tesouras, nos bateram com um cadeado. A mãe veio com uma pedra grande, e a outra filha também tinha uma pedra para nos bater.”
Paute não foi a única a sofrer o ataque — sua filha, nora e outra defensora da água chamada Carmen também foram agredidas. As feridas físicas estão cicatrizando, mas o trauma emocional permanece vivo.
“Dor”, diz ela, quando questionada sobre o impacto do ataque, com as mãos trêmulas. “Uma dor física, mas uma dor cheia de muita raiva. Porque não estamos fazendo nada de errado quando defendemos a água. Não é só hoje ou ontem, é há muitos anos. E eles, em apenas um minuto, aparecem, nos agarram e nos espancam.”
O ataque a Paute representa uma escalada preocupante em um conflito que tem sido travado principalmente por meio de batalhas judiciais e protestos pacíficos. Para os defensores da água, essa hostilidade crescente apenas ressalta o alto risco de sua luta e os poderosos interesses alinhados contra eles.
Apesar de ter entrado com uma ação judicial contra seus agressores, Paute teme que essa violência seja apenas o começo, à medida que as tensões aumentam entre aqueles que defendem a água e aqueles que apoiam os interesses da mineração. Quando questionada se acredita que a violência aumentará se as operações de mineração começarem, sua determinação brilha através de suas lágrimas: “Teremos que continuar lutando e ver o que acontece. Mas não haverá outra oportunidade, agora teremos que lutar com ainda mais força.”
Brandi Morin (Cree/Iroquois) é uma jornalista premiada que aborda questões de direitos humanos a partir de uma perspectiva Indígena. Ao longo do último ano, ela viajou repetidamente ao Equador, reportando sobre o impacto dos projetos de mineração canadenses sobre os Povos Indígenas que lá vivem.
Dois tanques pertencentes à Dundee Precious Metals.

A LEI NACIONAL DA GUATEMALA
Não é desculpa para ignorar os Direitos Humanos

Juízes da Corte Interamericana de Direitos Humanos durante a audiência para analisar o caso das rádios comunitárias Indígenas.
Por Cesar Gomez (MAYA POCOMAM, EQUIPE CS STAFF)
Os Estados “não podem invocar sua legislação interna para evitar o cumprimento de obrigações internacionais”, enfatizou o juiz Ricardo Pérez Manrique, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, em sua decisão sobre o caso Kaqchikel Maya Indigenous Peoples of Sumpango et al. versus Guatemala, durante uma audiência em 23 de maio de 2025. O caso, apresentado pela Cultural Survival e pela Associação Sobrevivência Cultural, com sede na Guatemala, com o apoio da Clínica de Direitos Humanos e Povos Indígenas da Faculdade de Direito da Universidade de Suffolk, foi originalmente apresentado em 28 de setembro de 2012, argumentando que a lei de telecomunicações da Guatemala exclui os Povos Indígenas do acesso às suas próprias formas de mídia por meio da rádio comunitária. O juiz Pérez apontou exemplos dos Estados da Argentina, Chile, Costa Rica, Equador, Panamá e Peru, “que cumpriram as sentenças sem a necessidade de leis prévias”.
Em 2021, a Corte Interamericana de Direitos Humanos declarou a República da Guatemala “internacionalmente responsável pela violação dos direitos à liberdade de expressão, igualdade perante a lei e participação na vida cultural” dos Povos Indígenas. A decisão histórica veio após décadas de ativismo por parte de membros do movimento de rádios comunitárias Indígenas na Guatemala, que lutavam por sua liberdade de operar estações de rádio e transmitir informações em línguas Indígenas para e de suas comunidades.
Na Guatemala, as estações de rádio comunitárias Indígenas ainda não foram legalizadas quase 30 anos após esse direito ter sido garantido nos Acordos de Paz da Guatemala. Elas continuam a operar em uma zona cinzenta legal que tem levado a frequentes perseguições e criminalização por parte dos conglomerados de mídia tradicionais, da Polícia Nacional e de políticos.
A Guatemala sediou a 176ª sessão ordinária da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 19 a 23 de maio de 2025, convocando audiências públicas e privadas para monitorar julgamentos em casos envolvendo o Estado da Guatemala. Em sua decisão sobre as rádios comunitárias Indígenas, o tribunal avaliou quatro reparações: 1) A liberdade de operar rádios comunitárias Indígenas; 2) Adaptação das regulamentações para reconhecer e regulamentar as rádios comunitárias Indígenas; 3) Cessação dos processos criminais contra operadores de rádio; e 4) Eliminação das condenações pelo uso do espectro de rádio.
David Dávila Navarro, da Comissão Presidencial para a Paz e os Direitos Humanos, afirmou que a base da decisão do tribunal é a ausência de regulamentos que reconheçam legalmente as estações de rádio comunitárias Indígenas. Embora o presidente Bernardo Arévalo tenha emitido ordens para cumprir a resolução, as estações de rádio comunitárias têm demonstrado repetidamente a falta de vontade política do Estado para implementá-las.
Liberdade para operar estações de rádio comunitárias Indígenas
Os operadores de rádio comunitárias afirmaram que o Estado não cumpriu a Resolução 4, que exige que ele forneça frequências à quatro estações de rádio comunitárias Indígenas enquanto uma lei mais específica é aprovada. Anselmo Xunic, representante da Rádio Ixchel e do movimento de rádio comunitárias, disse que o Ministério das Comunicações ofereceu um acordo para atribuir duas frequências da estação de rádio nacional TGW, mas as estações de rádio comunitárias rejeitaram a proposta devido a várias limitações. Primeiro, o uso da frequência era por um ano, com a opção de renovação por mais um ano; no entanto, não havia obrigação do Ministério das Comunicações assinar a prorrogação.
Segundo, diz Xunic, a frequência considerada para
uma das estações do povo Mam de Todos Santos, Huehuetenango, está atualmente ocupada ilegalmente por outra parte, e a Superintendência de Telecomunicações não tem capacidade para liberar a frequência. Terceiro, o documento contém várias cláusulas que limitam a liberdade de expressão.
Adriana Sunun, da Associação de Advogados Maias da Guatemala, solicitou ao Tribunal que exortasse o Estado a tomar medidas e proteger legalmente as quatro estações de rádio comunitárias até que os regulamentos fossem adotados. Da mesma forma, ela enfatizou que as comunidades deveriam poder operar nas frequências em que operam há muito tempo, sem interferências e sem medo de processo criminal.
Adaptar regulamentações para reconhecer e regulamentar as rádios comunitárias
Indígenas
As poucas propostas apresentadas pelo Estado não refletem o espírito da decisão da Corte. O projeto de lei sobre rádios comunitárias (5965), apresentado ao Congresso um mês após o anúncio da decisão, não consultou as comunidades Indígenas e contém várias ambiguidades, incluindo o processo de concessão de frequências, afirma Amy Chavarro, da Clínica de Direitos Humanos e Povos Indígenas da Faculdade de Direito da Universidade de Suffolk.
Dada a falta de propostas adicionais das instituições estatais, os operadores de rádios comunitárias propuseram que o projeto de lei fosse analisado, alterado e adaptado aos critérios da decisão. Eles também solicitaram que o judiciário instigasse o Estado a estabelecer um diálogo com a Diretoria do Congresso, proposta que foi recebida positivamente pelos representantes da Comissão Interamericana de Direitos Humanos.
Cessação dos processos criminais contra operadores de rádio
“Minha percepção é que [o MP] não emitirá uma instrução descriminalizando ações contra rádios comunitárias”, diz Cristian Otzin, da Associação de Advogados Maias da Guatemala, respondendo ao comentário do representante do Ministério Público, Estuardo Ávila, de que o Estado não considerou necessário emitir uma instrução específica para abster-se de instaurar processos criminais, apesar de a decisão ser inequívoca ao afirmar que as rádios comunitárias não estão cometendo crimes. Ávila afirma que não estão sendo realizadas batidas policiais nas rádios comunitárias. No entanto, isso não garante que elas não ocorrerão no futuro, contrapõe Sunun, tornando necessário ter por escrito o compromisso do Ministério Público de abster-se de criminalizar ainda mais as comunidades e as rádios comunitárias. Ela acrescenta que nada mudou no Ministério Público desde a decisão; a ação penal contra o uso ilegal de frequências de rádio continua em vigor, e as soluções propostas pelo Estado não garantem verdadeiramente o cumprimento da resolução.
Extinção de condenações pelo uso do espectro de radiofrequências
Mario Ellington, da Secretaria dos Povos Indígenas do Poder Judiciário, informou na audiência que o Supremo Tribunal Federal considerou que a anulação de condenações não é de sua competência, argumentando que são necessárias reformas legais para anulá-las e que tais reformas são de responsabilidade do Congresso. Em última análise, diz ele, “isso deixa as vítimas na mesma situação em que se encontravam antes da decisão”.

Otzin acredita que os representantes do Poder Judiciário não estão totalmente cientes da decisão, que determina a anulação dos processos em aberto contra comunicadores comunitários. Embora a Defensoria Pública dos Direitos Humanos tenha informado ao Tribunal o pedido feito ao presidente do Poder Judiciário para anular as condenações, e os operadores de rádio tenham feito vários pedidos para se reunir com juízes do Tribunal Penal para definir um caminho para a anulação das condenações, não houve resposta. Os demandantes foram enfáticos durante a audiência ao solicitar um prazo de um mês para a criação de um grupo de trabalho com os juízes.
Ellington afirma que a Escola de Estudos Judiciários foi instruída a informar todos os juízes, magistrados, tribunais de sentença e câmaras de apelação sobre o veredicto.
Reivindicações dos demandantes
Dada a demonstrada falta de vontade política do Estado, os reclamantes solicitaram que o Tribunal exortasse o Estado a: a) Adotar ações afirmativas que permitam às quatro comunidades operar livremente suas estações de rádio comunitárias; b) Estabelecer um diálogo com a Diretoria do Congresso para analisar e aprovar a Iniciativa 4087; c) Implementar o monitoramento do espectro de rádio para obter dados reais sobre as frequências FM; d) Ordenar ao Ministério Público que emita uma instrução ordenando aos promotores que se abstenham de invadir estações de rádio comunitárias; e) Exija que a Suprema Corte estabeleça um grupo de trabalho para resolver a comutação das para aqueles que foram injustamente processados, bem como estabelecer prazos para audiências de monitoramento do cumprimento.
O Alto Comissariado para os Direitos Humanos, na qualidade de observador, aguarda a decisão final da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que publicará a resolução oficial nos próximos meses.
Da esquerda para a direita: Amy Chavarro, advogada do caso da Universidade de Suffolk, e Adriana Sunun (Maya Kaqchikel), assessora das rádios comunitárias Indígenas da Guatemala.
TODO O GELO DERRETE K
seniia Bolshakova (Dolgan) é uma ativista de língua Indígena e escritora decolonial do Ártico russo. Em seus escritos em sua língua nativa, o dolgan, ela revive, junto de sua comunidade, as experiências dolorosamente familiares vividas por Povos Indígenas em todo o mundo. O choque entre modos de vida tradicionais e a modernidade colonial, assim como os impactos das mudanças climáticas, obrigam indivíduos Indígenas a escolher entre proteger sua identidade cultural e garantir sua sobrevivência cotidiana. É esse momento agudo, efêmero e intangível que Bolshakova captura em sua autoficção. A seguir, um capítulo de Todo o Gelo Derrete. Bolshakova é bolsista do programa Cultural Survival Youth Fellowship 2023. Para ler mais de seus escritos, encontre-a no Instagram em @haka. huruksut.
UMA FRAÇÃO DE SEGUNDO
Por Kseniia Bolshakova (DOLGAN)
IGalhadas batem na neve. O laço aperta o corpo. Alyosha, o pastor de renas, arrasta Ksusha, o filhote de rena, pelo chão. Eu me contorço e resisto. Com o rosto em carne viva, arranhado pela neve, minhas bochechas ardem. Finalmente, consigo me soltar e corro em direção às minhas
Família Chuprin vagando pela tundra Popigay.
galhadas. Meu irmão recolhe o laço e começa a correr atrás de mim, gritando. Ele lança o laço na minha direção, mas eu desvio do laço com agilidade. As renas observam, espantadas, essa pequena cria humana com galhadas pesadas, vestindo um casaco, chapéu e botas de pele de rena.
Os rapazes estão se preparando para pescar no gelo. Nós, os mais novos, imploramos para ir junto. Para essa ocasião, o vovô arreou para nós sua melhor rena-guia do rebanho da família. Felizes, entramos para tomar um chá. Nunca bebemos “chá puro”. Coloco um peixe frito sobre um pedaço de jornal e encho a boca com a carne branca e macia. Uma espinha minúscula arranha minha garganta. Pego um pedaço de pão e engulo a parte macia junto com a espinha. “O estômago resolve isso”, é o que o vovô diz enquanto mergulha carne de rena cozida em leite condensado.
Os rapazes saem do acampamento com três trenós puxados por renas. Nós quatro subimos no nosso trenó. O condutor, Uybaan, cutuca as renas com o bastão. Mas a rena-guia está de mau-humor — ela insiste em ir para a direita, puxando a parceira de volta para o rebanho. Estamos dando voltas no mesmo lugar. E essa era a melhor rena-guia! Uybaacha vai até as renas e puxa o arreio do animal teimoso. Ninguém entende o que a deixou tão irritada.
“Vem aqui!”
“Araaa! O que é isso?”


Não era a nossa rena-guia! Os rapazes a trocaram enquanto tomávamos chá. Gritamos atrás dos ladrões imundos, dizendo que devolvessem nossa rena. Mas tudo o que ouvimos de volta foram gargalhadas descaradas. Pois muito obrigado! E quem precisa de vocês, afinal? Vamos ao rinque de patinação em vez disso! Bem, na verdade, não temos um rinque, mas do outro lado dos baloks há um lago perfeito para deslizar no gelo.
IINosso fabuloso quarteto está pronto. Alyosha tem uma pá, Andreika e Uybaan têm algumas tábuas finas de madeira compensada, e eu tenho luvas de verdade! No ano passado, eu tinha um casaco de pele com mangas fechadas, sem abertura para as mãos (nem mesmo para o polegar). Eu andava por aí como um pequeno pinguim sem dedos. Mas agora minhas mangas estão abertas de um lado, como as dos adultos.
Marcamos um quadrado e cada um ocupava um canto, e assim, começamos a limpar o gelo. Usando bem minhas luvas, logo fico coberta de neve, pareço um boneco de neve. Exausto, Alyosha cai no chão da parte já limpa. É hora de testar o gelo. Amarro bem as tiras das minhas botas de pele. Enrolo as faixas de couro de rena firmemente em torno dos tornozelos. As botas são feitas com pele da canela das renas: a parte de cima tem o pelo para fora e as solas têm o pelo para dentro. Elas deslizam melhor do que qualquer par de patins.
Andreika ganha impulso e desliza de joelhos, usando as botas de cano alto. Uybaacha, de bruços sobre uma tábua de madeira, acaba batendo a cabeça na borda de neve do rinque. Todos caímos uns sobre os outros, rindo sem parar.
Os vizinhos ligam o gerador. O cheiro de gasolina nos chama de volta ao acampamento. Tia Tatyy conecta o DVD player à TV. “Chá forte, meu querido chá”, canto enquanto encho as canecas.
Somos transportados para outra vida. Não importa que já saibamos o filme de cor. Durante duas horas, corremos de carro, subimos arranha-céus, nos perdemos em um mar de pessoas e luzes. E então chega a hora de voltar daquele mundo incrível para casa, onde tudo o que temos é neve.
O vento forte me empurra com insistência. O redemoinho levanta a neve ao redor dos cães, enroscados em pequenas bolas. As renas, agrupadas, são cobertas por camadas de neve. A escuridão pesada da tundra recai sobre nosso pequeno acampamento. Encontro abrigo contra o frio e a escuridão em nosso pequeno, mas resistente, balok. III
O que aconteceu com meus amigos e com o meu povo?
A vida moderna mudou os valores e as necessidades dos Dolgans. O trabalho dos pastores de renas foi desvalorizado. Poucos continuam dispostos a suportar as dificuldades da vida na tundra por tão pouco.

Os jovens continuam vivendo nas aldeias, onde há casas, eletricidade, lojas e ao menos um pouco de internet, ou partem para as cidades. Passam a vida em trabalhos sem sentido, que não exigem habilidade nem conhecimento, apenas consomem sua força e os anos de suas vidas.
Os jovens Dolgans vivem como russos comuns, em prédios de apartamentos, longe de suas famílias e de seu povo, longe de nossa língua e da tundra. Ainda se sentem Dolgans? Estão criando seus filhos como Dolgans? E quem é o culpado por isso?
As motos de neve que substituíram as renas. A dissolução das fazendas coletivas e a divisão dos rebanhos nos anos 1990. Ou, na verdade, a própria criação dessas fazendas coletivas. Coletivização. Sovietização. Russificação. Alcoolização. Ou talvez a raiz esteja ainda mais profunda.
Talvez os culpados não sejam aqueles que tentaram construir nossa vida por nós, levando nossas crianças para internatos, criando brigadas de pastoreio em vez de práticas nômades familiares, impondo cotas de caça e pesca sobre nossas próprias riquezas naturais.
Talvez os culpados sejam aqueles que nos batizaram indiscriminadamente, que desprezaram nossa fé nos espíritos protetores, que arrancaram nossas peles e saquearam os “presentes” da Sibéria. Como mais poderíamos ter nos tornado estrangeiros errantes em nossa própria terra, minorias dependentes da assistência do Estado?
Minha aldeia natal, Popigai, fica às margens do rio de mesmo nome, que leva até a cratera Popigai. Essa “ferida estelar”, aberta pela queda de um meteorito, fez jorrar uma chuva de diamantes. Mas a chuva coroou não as cabeças dos Dolgans, e sim as dos industriais que repartem as entranhas da nossa terra. Vivemos na pobreza e na dívida. A única diferença é que, antes, os livros de dívida pertenciam aos mercadores; agora, o que devemos pelas compras é anotado pelos donos das lojinhas da aldeia.
A única coisa que os Dolgans ainda têm são as renas. O pastoreio morreu entre os Dolgans Superiores nos anos 1970. Os Dolgans Inferiores vendem seus rebanhos a criadores da vizinha república de Sakha ou simplesmente abatem as renas para carne.
Temos um futuro? Ou apenas um presente passageiro, e um passado derretendo ao longe na tundra?
Kseniia Bolshakova.
Njuku Zharkov acostumando seu filho à sela.
BRASIL TERRA INDÍGENA

Os povos Pataxó e Pankararu preparam uma cerimônia espiritual com xamãs e Encantados (entidades sagradas). Esse ritual serve como preparação, invocação, purificação e boas-vindas aos visitantes. Terra Indígena Cinta Vermelha, Vale do Jequitinhonha, Brasil. Foto da equipe da CS.
Edson Krenak (KRENAK, EQUIPE CS)
Dos mais de 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil, cerca de 14 % estão identificados como Terras Indígenas, já demarcadas ou em processo de homologação. No entanto, é importante destacar que mais de 80% da biodiversidade, das águas, dos minerais e da vida silvestre - reconhecida pela ciência ou não - está sob a proteção dos povos originários, guardiões milenares das florestas, dos campos e dos rios. Essas terras vão além de mapas ou até mesmo fronteiras: são territórios de vida, históricos e ancestrais, pilares da existência física e espiritual dos povos que hoje o Estado brasileiro e o mundo chamam de Povos Indígenas.
A relação desses povos com o ambiente não é de domínio, mas de reciprocidade, cuidado e pertencimento. Essa cosmovisão é, ao mesmo tempo, a chave para a solução das crises climática, alimentar e hídrica globais. É também a razão pela qual os Povos Indígenas não só do Brasil, mas do mundo, ocupam um papel central nos debates da COP 30 em Belém do Pará neste ano.
A Conferência do Clima da ONU não é o único fórum que reconhece a importância dos Povos Indígenas, mas é neste momento histórico que essa participação precisa se transformar em reconhecimento pleno (da diversidade das identidades Indígenas), recursos concretos (da prosperidade e abundância do mundo), e poder de decisão efetivo (da força democrática e da autodeterminação).
A máxima espalhada nas ruas “O Brasil é Terra Indigena” não é uma metáfora, mas uma verdade histórica, política, ecológica e social. Nesta edição especial cobrimos os temas, os desafios e as oportunidades desse Brasil Indígena, considerando três realidades distintas desses povos: os guardiões invisíveis, os guerreiros das linhas de frente, e aqueles que são muitas vezes esquecidos, normalmente estando fora das políticas públicas Indígenas e só recentemente entrando no censo brasileiro: o Brasil Indígena urbano.
Os Guardiões Invisíveis: Povos em Isolamento e Contato Inicial
Em toda a Amazônia, vivem em isolamento voluntário ou em situações de contato inicial mais de 180 grupos ou povos, segundo o Grupo de Trabalho Internacional para a Proteção dos Povos Indígenas em Isolamento e Contato Inicial (GTI-PIACI). Ainda sim, somente 60 são reconhecidos pelo Estado. Esses povos — conhecidos pela sigla PIACI — são as comunidades humanas mais vulneráveis do mundo. Eles escolheram viver longe da interferência do Estado e da sociedade industrial e capitalista, mantendo uma relação de total dependência com a terra. No entanto, estão sob grave ameaça.
A mineração ilegal, o desmatamento e as incursões violentas de grupos criminosos, missões religiosas e projetos de urbanização têm violado seus territórios. Apesar das proteções constitucionais pelo menos no Brasil, muitas de suas terras permanecem sem demarcação, e por estarem invisibilizadas pelo Estado, a fiscalização é frágil ou inexistente. Esses povos não têm voz nos fóruns climáticos
— mas reconhecer sua existência, seus direitos de viver ali, e proteger seus territórios são formas poderosas de ação climática. Suas terras são vastos sumidouros de carbono, santuários da biodiversidade e exemplos vivos de equilíbrio entre humanos e natureza. Na COP 30, o Brasil e a comunidade internacional devem reconhecer a proteção dos PIACI como uma obrigação de direitos humanos e um imperativo climático.
Os defensores da linha de frente: territórios demarcados, territórios de vida
Uma grande parte dos Povos Indígenas reconhecidos do Brasil vivem em territórios já reivindicados ou demarcados, ou pelo menos em processo de estudo e homologação. Essas terras — muitas vezes garantidas por décadas de luta — são mais do que espaços políticos. São sistemas de governança, espiritualidade e inteligência ecológica. São territórios de Vida. Aqui, as comunidades manejam agroflorestas, protegem fontes de água, preservam sementes e transmitem conhecimentos ancestrais. Mas a vida nesses territórios está sitiada. Invasão de grileiros, madeireiros ilegais e garimpeiros são comuns.
A presença e o impacto da mineração de média e larga escala, e do agrobusiness já trazem por décadas um ameaça ambiental e para a saúde humana incalculável.
A negligência governamental, os retrocessos legais e os impactos climáticos — de secas a calor extremo — agravam o problema. Mesmo assim, essas comunidades estão liderando o caminho. Muitas desenvolveram Planos de Gestão Territorial e Ambiental (PGTAs), oferecem modelos de conservação comprovados e reivindicam acesso direto ao financiamento climático para fortalecer sua autonomia. Esses territórios não são apenas áreas protegidas — são soluções climáticas vivas.
Povos Indígenas em contexto urbanos e povos em Movimento
O censo de 2022 revelou algo impressionante: a população Indígena é mais urbana que a rural - cerca de 53,97% vivem em contexto urbano. O número pode aumentar se considerarmos as populações em movimento e migração devida à violência e impactos ambientais. Mais de um terço desses povos vivem fora de territórios oficialmente reconhecidos. Essas comunidades são frequentemente invisibilizadas pelo Estado — suas identidades são questionadas e seus direitos negados. No entanto, eles estão profundamente engajados na luta por reconhecimento e terras. São um baluarte contra o legado criminoso da colonização.
Os Povos Indígenas urbanos são artistas, educadores, políticos, curandeiros, advogados, ativistas — reconstruindo conexões territoriais por meio de centros culturais, advocacia jurídica e contação de histórias. Eles nos lembram que território não é apenas geografia — é memória, língua, ritual e pertencimento. Sua luta expande a definição do que conta como Terra Indígena e de quem conta como Indígena. O Brasil inteiro é Terra Indígena.
A Luta Climática e a ameaças jurídicas
O que une essas três realidades — o PIACI, os povos em terras demarcadas e os povos em movimento — não é apenas uma história compartilhada de resistência, mas uma visão compartilhada: a de que a vida é sagrada, a terra é viva e a justiça deve ser territorial. Reflorestar e demarcar terras são seus verbos principais. Suas demandas vão além da inclusão — buscam uma transformação na forma como nos relacionamos com o planeta.
No entanto, enquanto os Povos Indígenas continuam a apresentar soluções claras e baseadas em direitos, o Estado brasileiro permanece imerso em batalhas jurídicas que ameaçam sua existência. Uma das mais alarmantes é o chamado Marco Temporal, um argumento jurídico que afirma que os Povos Indígenas têm direito apenas às terras que ocuparam fisicamente em 1988 — ignorando históricos de deslocamento, violência e remoção forçada. Embora recentemente rejeitado pelo Supremo Tribunal Federal, o conceito continua a aparecer em propostas legislativas que podem ser ainda mais catastróficas, como a PL das Devastação, (Proposta de Lei 2159/21) minando direitos constitucionais e deixando as comunidades Indígenas vulneráveis e o meio ambiente exposto a exploração e destruição. O que é urgentemente necessário são mecanismos legais mais fortes na prática — não apenas para garantir os direitos à terra, mas para fazê-los cumprir, proteger os defensores e assegurar a plena implementação do Consentimento Livre, Prévio e Informado (CLPI) em todas as decisões que afetam os territórios Indígenas. Ao mesmo tempo, devemos rejeitar falsas soluções climáticas que tratam os territórios Indígenas como meras reservas de carbono ou bancos de minerais. De esquemas REDD+, que ignoram as comunidades locais, aos chamados projetos de “mineração verde”, que devastam terras enquanto reivindicam sustentabilidade, o conhecimento e os recursos Indígenas são explorados sem reconhecimento da soberania Indígena. As promessas da Transição Justa tem deixado as comunidades da floresta para trás nas negociações de um mundo mais limpo e seguro. As consequências são bastante familiares: recursos são extraídos, rejeitos são deixados para trás, rios são contaminados, comunidades são abandonadas e os lucros concentrados nos países ricos, especialmente europeus e nos EUA, enquanto pobreza e desigualdade se propagam nos países previamente colonizados. Esses não são apenas crimes ambientais — são extensões de padrões coloniais que continuam a sacrificar a vida Indígena em busca de lucro a curto prazo. Se a COP 30 tem algum significado, este deve ser o momento em que acabamos com essa hipocrisia e alinhamos o financiamento, a governança e as políticas climáticas com a justiça e a autodeterminação.
O Brasil é Terra Indígena. É hora de o regime climático reconhecer quem realmente fala por ele.
Sineia do Vale - da atuação de base para a vice-presidência do Caucus Indígena Internacional para a
COP30 NO BRASIL
Sineia do Vale (Wapichana), também conhecida como Sineia Wapichana, iniciou sua trajetória em 1992, aos 17 anos, quando foi convidada por seu tio Clóvis para trabalhar como secretária do Conselho Indígena de Roraima (CIR). Ali, ela acompanhou assembleias comunitárias e reuniões estratégicas dos mais de duzentos Povos Indígenas de Roraima, sobretudo em atividades ligadas à demarcação de terras, como a da Terra Indígena Raposa Serra do Sol. Essa vivência direta com lideranças e processos organizacionais construiu a base de sua formação política e técnica e de sua atuação até os dias de hoje.

nas locais de enfrentamento e adaptação às mudanças climáticas, elaborados com metodologias próprias, sem consultores externos.
Para Sineia, implementar os Planos de vida é materializar os sonhos das comunidades sobre a gestão e proteção de seus territórios. “Quando implementamos os PGTAs em terras Indígenas, onde os Planos de Vida foram criados, estamos implementando as ações de que as comunidades precisam para continuar protegendo e cuidando de seus territórios”, afirma ela.
O trabalho de Sineia no campo ambiental começou em 1998, durante uma das maiores secas em Roraima. Atuou em um projeto emergencial chamado “Secas e Queimadas”, implementando ações de abastecimento de água e recuperação de sementes nas comunidades, mesmo sem treinamento prévio. A partir daí, percorreu uma trajetória voltada à gestão territorial e ambiental, e em 2006 formou-se como gestora ambiental.
Em 2009, articulou a criação do Departamento de Gestão Territorial e Ambiental do CIR, integrando o conhecimento tradicional com temas emergentes como mudanças climáticas e REDD+, uma estrutura de mitigação climática desenvolvida pela Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC) que visa incentivar os países em desenvolvimento a reduzir as emissões de gases de efeito estufa e o desmatamento.
Um dos marcos dessa atuação foi a formação dos Agentes Ambientais Indígenas, iniciada a partir de uma parceria com o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente. Essa formação foi adaptada com metodologia própria, específica para Indígenas, permitindo que agentes produzissem laudos e relatórios de invasões e degradação ambiental. Mesmo com a suspensão do programa federal, o CIR continuou a formar agentes com apoio de outras parcerias sob sua liderança.
Sineia liderou também a criação das Brigadas Comunitárias Indígenas e contribuiu para o desenvolvimento de metodologias participativas para os Planos de Gestão Territorial e Ambiental (PGTAs). A partir de 2011, o CIR construiu os primeiros PGTAs nas regiões das Serras e do Lavrado, com forte envolvimento das comunidades. Atualmente, o CIR já implementou 27 Planos de vida - mecanismos Indíge-
A criação dos PGTAs também coincidiu com a formulação da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas (PNGATI). Sineia participou das consultas públicas e defendeu que as políticas ancorassem as experiências do CIR, com uma participação robusta das comunidades locais. Em 2015, passou a atuar no Comitê Gestor da PNGATI, coordenando a Câmara Técnica de Mudança do Clima, além de integrar o Comitê Indígena de Mudança Climática, uma iniciativa do movimento indigena do Brasil.
Sua entrada na arena internacional começou em 2011, participando da sua primeira COP em Durban, África do Sul, já articulada com o CIR e os temas de base. Desde então, atua na incidência internacional conectando as realidades comunitárias com as decisões multilaterais sobre clima, trazendo a importância dos conhecimentos Indígenas, da participação comunitária e da formação de base. Os desafios linguísticos do trabalho internacional não a impediram de aumentar sua participação e alçar sua voz: acompanha longas sessões de negociação com o apoio de tradutores, observando como os Povos Indígenas de diferentes regiões do mundo e seus aliados lutam para garantir os direitos dos Povos Indígenas nos espaços da ONU. Hoje, Sineia é co-presidente do Caucus Indígena Internacional da COP pela América Latina e Caribe, uma indicação feita pela COIAB com amplo apoio do movimento Indígena internacional. Ela destaca que sua presença nesse espaço não é uma busca por poder, mas por incidência política qualificada, com diplomacia Indígena e estratégias coletivas. Ressalta que o Caucus é um espaço construído pelos próprios Povos Indígenas, com representantes das sete regiões
socioculturais do mundo, unidos pela luta por direitos e reconhecimento nos processos da UNFCCC.
“Minha participação como copresidente para a América Latina e o Caribe no Caucus Indígena é, para mim, muito mais uma forma de trazer a experiência que adquiri em um processo coletivo que foi construído a partir da base, do nível comunitário”, diz do Vale. “E, por meio do Caucus, podemos coletivamente trazer os interesses dos Povos Indígenas para esses espaços que estão tão distantes da realidade de nossas comunidades.”
Para a próxima COP no Brasil, em Belém do Pará, Sineia destaca a oportunidade estratégica de garantir presença Indígena qualificada na Zona Azul, onde ocorrem as negociações centrais e determinantes para a questão climática mundial. Defende que as Terras Indígenas sejam incorporadas como contribuição nas NDCs (Contribuições Nacionalmente Determinadas) para o combate às mudanças climáticas, além de exigir financiamento direto para iniciativas baseadas em conhecimentos Indígenas. Temas prioritários incluem: financiamento climático, justiça climática, perdas e danos, REDD+, mercado de carbono, transição justa, conhecimentos Indígenas em colaboração com as ciências, e o reconhecimento do papel das comunidades Indígenas na manutenção da biodiversidade e equilíbrio climático.
“Em nosso trabalho, reunimos o conhecimento Indígena com questões emergentes. Com o tempo, novos temas foram surgindo — primeiro as mudanças climáticas, depois o REDD+ e, mais tarde, todos esses outros mecanismos
que começaram a se fundir com o conhecimento que os Povos Indígenas já possuíam sobre como cuidar das comunidades e do meio ambiente. Tudo está conectado à natureza: à água, às plantações, às plantas medicinais e à forma como somos capazes de trabalhar com esses novos temas. Essas são nossas próprias metodologias — elas não estão escritas em lugar nenhum. Elas são construídas através da experiência vivida. Trazemos uma metodologia de treinamento que eu sempre digo ser a melhor: a cocriação. Não trazemos nada pronto. Todo o nosso treinamento é sempre construído em conjunto com os agentes Indígenas”, diz do Vale.
Sua expectativa é que a COP no Brasil aprofunde a escuta das vozes Indígenas e avance na implementação de políticas públicas concretas com base nos planos de vida, fortalecendo a atuação local com respaldo internacional. Sineia traz a convicção de que a atuação Indígena nesses espaços deve ser coletiva, política e conectada com as realidades territoriais, e que a diplomacia Indígena é fundamental para garantir avanços efetivos nos processos climáticos globais.
Texto baseado na entrevista de Edson Krenak e Patricia Zuppi com Sineia Wapichana, veja a entrevista completa em nosso site www.cs.org/csq.

A bela Floresta Amazônica.
Foto da equipe da CS.
Weibe Tapeba Foto cortesia de www.gov.br.
LÍDER INDÍGENA E ATIVISTA
DO NORDESTE BRASILEIRO EM
DEFESA DA SAÚDE INDÍGENA

Edson Krenak (KRENAK, EQUIPE CS)
Weibe Tapeba (Tapeba) faz parte da liderança Indígena do povo Tapeba, originário do município de Caucaia, Ceará, na região nordeste do Brasil. Ele é professor e advogado, atualmente atuando como Secretário
Especial para a Saúde Indígena (SESAI) no Ministério da Saúde, onde é responsável pela coordenação e implementação da Política Nacional de Saúde Indígena — um programa que visa assistir aproximadamente 800.000
Indígenas dos 305 Povos Indígenas reconhecidos no Brasil por meio de serviços de atenção primária e serviços integrais de saúde Indígena. Ele é um dos vários líderes Indígenas do Nordeste com quem a Cultural Survival tem parceria desde a pandemia da COVID-19. A Cultural Survival conversou recentemente com Tapeba sobre os desafios e mudanças na saúde Indígena após anos de intensas lutas, particularmente sob o governo Bolsonaro (2019-2022).
Edson Krenak: Como foi que você assumiu a SESAI?
Em que estado estava a saúde Indígena?
Weibe Tapeba: Assumi a SESAI, no início de janeiro de 2023, após a eleição do Presidente Lula, sucedendo ao Governo do Ex-presidente Bolsonaro, que teve como característica o desmonte nas políticas sociais, incluindo as políticas voltadas ao atendimento da população Indígena brasileira. O cenário na saúde Indígena era de total abandono. Orçamento reduzido, falta de servidores no setor intermediário e profissionais de saúde nas áreas finais, infraestrutura precária na maior parte das aldeias Indígenas, cenário de colapso no acesso à água potável nas comunidades, isolamento institucional e orientações para que a instituição não realizasse investimento em áreas não homologadas.
Na nossa gestão, recuperamos a capacidade de execução de obras de unidades de saúde e de saneamento básico nas aldeias. Ampliamos o número de profissionais de saúde e estamos ampliando o orçamento a cada ano. Saindo de 1,6 Bi. em dezembro de 2022 para mais de 3 Bi. nesse ano de 2025. Aprovamos a primeira resolução sobre saúde Indígena na história da Organização Mundial de Saúde (OMS) sob a liderança do Brasil e decidimos propor uma nova política de saúde Indígena mais eficaz, baseada na diretriz do cuidado integral.
EK: Como a SESAI atende as diferentes regiões, considerando os desafios únicos de um imenso território?
WT: Nossa intenção é de que a SESAI, a partir de 2026, atue já com a nova política consolidada, tendo a participação e responsabilidade efetiva dos municípios e estados, para romper com o modelo atual, que se limita apenas a atenção primária à saúde dos Povos Indígenas. Nossa intenção, incluindo os estados e municípios da nova política, é incluir os serviços de atenção especializada, integrantes da média e alta complexidade na política, para que os Indígenas, ao saírem de seus territórios, possam ser atendidos respeitando as suas culturas específicas, tradições, e necessidades. Será importante a revisão de atos normativos para que o Sistema Único de Saúde (SUS), existente no Brasil, possa incorporar também questões relativas à valorização das medicinas Indígenas e dos detentores dos conhecimentos tradicionais dos próprios territórios Indígenas.
EK: Como garantir a igualdade de atendimento e recursos, e ao mesmo tempo garantir a permanência dos serviços?
WT: Sobre a questão do financiamento, estamos preparando o primeiro Programa Nacional de Saneamento Indígena - PNSI, que deverá ser lançado na COP 30 como uma
ferramenta que possa garantir condições para a universalização do saneamento básico nos territórios Indígenas do Brasil. Hoje, cerca de 65% das aldeias Indígenas não possuem acesso à água potável, fato que leva às comunidades Indígenas a sofrerem com muitos agravos à saúde, decorrentes dessa situação socioambiental. Também estamos buscando novas fontes de financiamento. Nessa nossa gestão, já acessamos a recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), recursos do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do SUS-PROAD, ampliamos as emendas parlamentares para a saúde Indígena, realizamos parcerias com diversos governos estaduais e agências de cooperação, estamos submetendo projetos junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES) através do Fundo Amazônia e pactuando uma parceria com o FOCEM - Fundo para a Convergência Estrutural do MERCOSUL. Nossa intenção é de que a saúde Indígena tenha cada vez mais condições orçamentárias para mudar a realidade dos territórios Indígenas do Brasil.
EK: Qual é o papel da liderança e governança local nas políticas de saúde Indígena em parceria com a SESAI?
WT: A importância da governança Indígena é uma realidade no Governo do Presidente Lula, que criou o primeiro Ministério dos Povos Indígenas (MPI) da história da República, e nomeou uma mulher Indígena, Joenia Wapichana, para assumir a presidência da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI), instituição responsável pela coordenação da Política Indigenista Brasileira e da nossa Secretaria de Saúde Indígena. Nessas três áreas principais, especialistas Indígenas integram as equipes, formulando as ações, programas e políticas de inclusão e promoção dos direitos dos Povos Indígenas, assim como a valorização dos Agentes de Saúde Indígena.
Em nosso planejamento, estamos propondo ao Governo Brasileiro, a realização de concurso público para fortalecer a gestão nos 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) que são as nossas unidades regionais descentralizadas, espalhadas em todo o Brasil, responsáveis pela execução das políticas de saúde Indígena. Também estamos mudando o modelo de contratação de toda a força de trabalho da saúde Indígena nas aldeias, superando o modelo de contratação de entidades privadas que realizavam os contratos dos profissionais de saúde, substituindo essas entidades pela Agência Brasileira de Apoio a Gestão do SUS (AgSUS), uma instância criada pelo próprio Governo Brasileiro que tem como um de seus objetivos fortalecer a saúde Indígena. Nesse projeto, temos a expectativa de capacitação de mais de 20 mil trabalhadores da saúde Indígena e a regulamentação das categorias profissionais dos mais de 7 mil Agentes Indígenas de Saúde (AIS) e Agentes Indígenas de Saneamento (AISAN). Assim como a valorização do cuidado Indígena, que inclui o papel central das medicinas Indígenas e dos detentores dos conhecimentos tradicionais. A compreensão que temos é que a diversidade de culturas e saberes precisa interagir e integrar a prática do cuidado em nossos estabelecimentos de saúde, e que as casas de rezas, salas de parto, e outros estabelecimentos, sejam compreendidos como equipamentos de saúde e possam receber financiamento público.
EK: Quais são as ações da SESAI para cuidar da saúde mental dos Povos Indígenas?
WT: A SESAI está elaborando um Programa Psicossocial na Saúde Indígena, como forma de propor medidas de prevenção ao suicídio, redução de danos nos territórios e estratégias para mitigar os agravos decorrentes do uso de álcool e outras drogas nas aldeias Indígenas. A articulação da rede psicossocial já existente, a formação profissional e a incorporação de medidas de cuidado espiritual e das medicinas tradicionais devem compor o programa.
Atualmente, aproximadamente 65% das aldeias Indígenas não têm acesso à água potável, o que faz com que as comunidades Indígenas sofram de inúmeros problemas de saúde. Estamos também buscando novas fontes de financiamento.
EK: A Crise do povo Yanomami tem sido uma ferida aberta há décadas, marcada por invasões de garimpeiros, abandono estatal, e sempre se torna notícia nos jornais internacionais, etc. Em A Queda do Céu, Davi Kopenawa alerta sobre a destruição da floresta e também a destruição da saúde mental, espiritual e física do seu povo. Como a SESAI tem atuado para lidar com a questão Yanomami?
WT: Sobre a situação da saúde Indígena na Terra Indígena Yanomami, é importante reforçar que estamos diante da Primeira Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN, dentro de uma Terra Indígena na história do Brasil. A Terra Indígena Yanomami é a maior do Brasil, com quase 10 milhões de hectares, maior do que dezenas de países espalhados pelo mundo. O acesso ao território se dá em quase sua totalidade, pelo modo aéreo. A população Yanomami, constituída por 33 mil Indígenas, está espalhada em 380 comunidades, muitas delas configuradas como comunidades de recente contato. No início das nossas ações, identificamos falta de profissionais de saúde, equipamentos de saúde desabastecidos de medicamentos, altos índices de mortalidade, surto de malária em dezenas de comunidades e doenças determinadas socialmente como a tungiase e a oncocercose se espalhando pelo território. Um cenário de insegurança alimentar causou desnutrição grave - resultados da invasão garimpeira, que impacta a capacidade produtiva dos Yanomami, junto com a contaminação dos rios por mercúrio e a onda de violência no território patrocinada pelos garimpeiros e pelo crime organizado.
Nossa atuação resultou na ampliação dos 690 profissionais que haviam, para 1800 profissionais, incluindo médicos especialistas. Saímos de apenas 4 médicos, para 47. Construímos ou reformamos novas 23 unidades de saúde Indígena. Implantamos a Telessaúde em 5 regiões no território e ampliamos a conectividade e a energia fotovoltaica nas unidades de saúde. Combinamos esforços com outras agências governamentais, promovendo a retirada de mais 90% dos garimpeiros invasores, que somavam cerca de 20 mil, distribuindo cestas de alimentos, apoiando projetos produtivos e a reabertura das escolas Indígenas.
HERANÇA VIVA
O LEGADO DE LÍDERES INDÍGENAS NA VOZ DE SEUS DESCENDENTES
Mais do que uma resistência, o movimento Indígena é inspirado por fortes laços comunitários e familiares. Ele é fortalecido coletivamente por diferentes línguas, conhecimentos e formas de ação política. Newiwe Top’Tiro (Xavante), Aptsi’ré Juruna (Juruna) e Roiti Metuktire (Kayapó/ Mebengôkre) são três entre os inúmeros jovens ativistas e líderes do movimento Indígena. Em uma conversa recente com a Cultural Survival, perguntamos a eles sobre a herança e o legado da luta ancestral que os trouxe até aqui, sobre a transmissão de valores, memórias e estratégias de luta entre gerações e sobre os sonhos, uma instituição central para muitos Povos Indígenas na construção de um futuro ancestral.
Newiwe Top’Tiro (XAVANTE)
Newiwe Top’Tiro é filha de Hiparidi Top’tiro, renomado líder A’uwẽ-Xavante, famoso por sua defesa incansável do bioma Cerrado e seu poderoso ativismo internacional. Atualmente, ela é estudante de arqueologia, motivada pelo desejo de pesquisar e recuperar os locais ancestrais de seu povo no coração do Brasil.
Eu demorei um pouco para entender como funcionava o movimento e o que meu pai realmente fazia. Ele sempre contava as histórias do meu avô, de como foi a trajetória dele na cidade, e principalmente, da força que o nosso sobrenome carregava. Ele e minha mãe sempre se esforçaram ao máximo para que eu e minha irmã tivéssemos uma boa educação e pudéssemos ingressar no ensino superior, e esse foi nosso foco até mais ou menos uns 15 anos.

A partir dessa idade, começamos a interagir mais com o movimento Indígena e ver a dimensão desse universo e do que meu pai participou. Obviamente, sabia o que acontecia por cima, e sempre vi meu pai em reuniões e viagens, mas não a profundidade e a quantidade de coisas que ele realizou. Sempre o vi como um homem forte e o admirei, ele sempre contou muitas histórias intercalando com muitas piadas, e atualmente, o vejo com muita consideração, como um homem incrível e guerreiro, como um amigo e um conselheiro para nossa jornada.
A luta da geração anterior foi, sem dúvida, grandiosa. Eles enfrentaram inúmeros desafios para que hoje possamos ser reconhecidos e ouvidos. Sei que meu pai sofreu muito ao deixar a aldeia para ingressar na universidade, em um tempo em que poucos Indígenas ocupavam esses espaços. Havia uma maior abertura [na época] para entrar na política e na mídia, chamando a atenção para a importância de proteger nossas terras e nossa cultura.. Eles enfrentaram batalhas duras e muitos sofrimentos para que a minha geração pudesse ocupar os espaços de hoje e ter voz ativa dentro do movimento.
Acredito que o movimento Indígena ainda está em constante construção e sempre estará. Com o passar do tempo, mudanças acontecem, e isso se reflete também em nós. Ainda que existam princípios fundamentais pelos quais seguimos lutando, é evidente que muitas transformações já ocorreram.
Um desses avanços importantes é o fortalecimento do papel ativo das mulheres no movimento. Cada vez mais, mulheres fortes têm conquistado destaque e ocupado espaços de liderança. Cito aqui com muito orgulho minhas tias: Bernardina, Berenice e Tstsina, mulheres admiráveis,

Newiwe Top’Tiro
Foto cortesia de Newiwe Top’Tiro.
Hiparidi Top’Tiro
Foto de Jamie Malcolm-Brown.
Aptsi’ré Waro Juruna
cuja atuação merece todo o reconhecimento. Talvez eu não me sinta “responsável” para fazer a mesma coisa, ninguém faz nada sozinho no movimento Indígena. Para mim, não se trata apenas de resistência, mas também de um gesto de gratidão por tudo que meu povo e minha aldeia fizeram por mim. Tudo o que estiver ao meu alcance para colaborar e dar visibilidade, eu farei. Tanto em nome do meu povo quanto em apoio ao movimento Indígena como um todo.
Quanto à influência de meu pai, penso constantemente em como posso aproveitar as oportunidades que surgem no meu caminho para seguir nessa trajetória. O curso que faço hoje e os projetos que participei desde então são exemplos disso. Tenho muito orgulho das minhas raízes e quero, cada vez mais, ampliar o alcance do movimento Indígena e convidar outras pessoas a conhecer e se conectar com essa luta. E não falo apenas dos não Indígenas, mas dos parentes que ainda não tiveram uma participação ativa.
Tenho notado que cada vez mais jovens estão se interessando em participar ativamente do movimento Indígena, trazendo à tona debates que antes não eram tão amplamente discutidos. Um dos principais recursos que temos a nosso favor hoje são as redes sociais, e é muito bonito ver como estamos ocupando esses espaços de forma estratégica e criativa.
Fico feliz ao ver que, por meio dessas plataformas, conseguimos mostrar quem somos de verdade e desconstruir os estereótipos que foram impostos por olhares não Indígenas. Estamos usando as ferramentas digitais não apenas para nos comunicar, mas também para nos afirmar, nos fortalecer e nos conectar com outras realidades. Também me chama atenção o crescimento do número de jovens comunicadores Indígenas, pessoas que usam suas câmeras, celulares e criatividade para registrar, narrar e compartilhar suas vivências, suas culturas e suas lutas. Isso tem gerado um impacto muito importante dentro e fora das nossas comunidades.
Sei que existe uma expectativa para que sejamos ativos dentro do movimento, mas no meu caso, nunca fui forçada a nada. Meu pai nunca me obrigou, ele apenas me mostrou, com o exemplo e as palavras, como podemos contribuir para melhorar nossa aldeia, fortalecer nossos vínculos e nos comunicar com outros povos. Ele sempre nos incentivou a usar aquilo que escolhemos fazer, seja um estudo, uma profissão ou um projeto, como uma forma de seguir em frente, sempre levando nossa família no coração, independente da distância, como minha mãe também nos ensinou. Esse apoio me inspira muito.
Vejo que o movimento Indígena está em um bom caminho e sei que meus pais têm orgulho disso — não apenas do que fazemos, mas da maneira como conseguimos honrar o que nos foi ensinado, olhando para o futuro sem esquecer de onde viemos.
No meu caso, o caminho que desejo trilhar é pela arqueologia. Foi nessa área que eu me encontrei. A arqueologia é rica, cheia de possibilidades, e me mostrou o quanto podemos contribuir não só para a ciência, mas também para o fortalecimento da nossa memória coletiva. Acredito que, por meio dela, posso ajudar na proteção e demarcação das terras, além de manter viva a história dos nossos povos.
Digo isso porque, ao começar a buscar os registros técnicos e históricos ligados à construção da nossa identidade, percebi como isso faz diferença, principalmente para os mais velhos, que ainda carregam essas lembranças e conhecimentos. Nem sempre técnicas antigas ou saberes de outras aldeias são reconhecidos como história, e vejo na arqueologia uma forma de resgatar e dar visibilidade a tudo isso. Comparar experiências, reconstruir narrativas e manter viva nossa herança é uma forma de resistência e continuidade.
Aptsi’ré Waro Juruna
(JURUNA/XAVANTE)
Aptsi’ré Waro Juruna é filho do falecido chefe xavante Mário Juruna, o primeiro Indígena a ocupar uma cadeira no Parlamento na história do Brasil. Atualmente, ele é estudante da Universidade de Brasília, onde cursa duas graduações: Ciências Sociais e Antropologia. Ele também trabalha como colaborador e apoiador político da Associação Xavante Warã e é bolsista do Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos.


Desde de minha infância, pude observar a passagem de muitas lideranças Indígenas de muitos povos do Brasil, lideranças não Indígenas do cenário político nacional e também Indígenas de outros países que frequentavam nossa casa. Muitos vinham para conhecer meu pai e outros para dar continuidade a diversas ações voltadas para os Povos Indígenas. Eles contavam, como era costume, a origem da tradicional e forte linhagem política da nossa família Aptsi’ré — Aptsi’ré era o avô do meu pai — que permeia os A’uwe Xavante até hoje. Esse processo ficou gravado na minha memória, e eu pude ter contato com pessoas de diversas culturas ao redor do mundo que frequentavam nossa casa.
Como criança, eu não compreendia totalmente o que estava acontecendo, mas na minha percepção era algo muito natural e até comum. No entanto, com o passar dos anos, passei a compreender verdadeiramente o núcleo da minha família. Também aprendi através de recortes de jornais, noticiários de televisão e livros de história que relatavam os grandes feitos históricos do meu pai em favor da luta Indígena. Isso foi muito emocionante para mim e continua sendo.
Não podemos desconsiderar o senso de autenticidade cultural das gerações mais antigas e sua compreensão dos ataques externos que as cercaram, nem suas alianças de luta e mobilização com outros Povos Indígenas do
Fotos cortesia de Aptsi’ré Waro Juruna.
Mário Jurunapage
Foto Superior:
Roiti Metuktire
Foto de Kokomeket Kayapo.
Foto inferior: Bedjai
Txucarramãe, à direita.
Foto de Ludio Sousa Barros.

Brasil e de outros países que também passaram por situações semelhantes de injustiça e violência. Essa relação precisa ser acompanhada o mais de perto possível, e isso exige que nós, a geração atual de Povos Indígenas, continuemos a fornecer acesso a ferramentas e mecanismos de proteção de nossos direitos a outros parentes que ainda têm acesso limitado ou nenhum acesso a esse tipo de informação. Portanto, acredito que nosso papel é levar oficinas e treinamentos em diversas áreas às aldeias, em áreas sociais como educação, saúde, política, direitos à terra e cultura, para que eles possam ter uma melhor compreensão e dimensão de tais situações. Na minha opinião, qualquer pessoa que tenha acesso real a essas informações tem a obrigação de repassálas a outros grupos que não têm esse acesso. Essas informações devem ser transmitidas de maneira confiável e disponibilizadas nos idiomas desses povos que estão sendo atacados por políticas que visam a assimilação cultural de nossas culturas e territórios. Esse legado traz uma grande responsabilidade e, ao mesmo tempo, uma certa naturalidade quando você percebe que, por meio de suas ações, pode ajudar muitas outras pessoas que talvez nunca venha a conhecer. Como diz o ditado no Brasil, “Se você tem maior acesso à água, é obrigado a saciar a sede de outros que não têm acesso à água”.

A ocupação dos Povos Indígenas nos espaços de decisão política no governo e em suas organizações de base no Brasil e internacionalmente é um reflexo dessa mudança positiva. Nossa inserção definitiva nesses espaços onde antes não existíamos, e nossa representatividade neles, é uma estratégia fundamental e necessária para a continuidade de nossa luta.
Apesar de termos culturas diferentes de outros Povos Indígenas, o elo que nos conecta a outros povos e culturas é o nosso enfrentamento às políticas que visam diminuir nossos direitos humanos como Povos Indígenas. A luta que enfrentamos continuará com nossos filhos, nossos netos e com as futuras gerações que estão sendo preparadas para ocupar esses cargos. A luta Indígena não terminará enquanto houver Povos Indígenas que ainda não
sabem lutar por seus direitos.
Devemos permanecer fortes com nossas culturas e costumes em um único movimento, visando o bem coletivo e a preservação de nossos modos de vida e, consequentemente, de nossos territórios ancestrais. Porque é daí que vem nossa força: ela vem da natureza, e nós pertencemos a ela e a protegemos.
Roiti Metuktire (KAYAPÓ/MEBENGÔKRE/JURUNA)
Roiti Metuktire vive no Território Indígena Capoto/Jarina, em Mato Grosso. Ele é filho de Bedjai Txucarramãe, importante líder do povo Kayapó, e de Darayo Ware Juruna (Juruna), habitante tradicional do território do Xingu.
Desde a juventude, fui orientado pelos saberes tradicionais e pelos exemplos de luta dos meus pais, especialmente no que diz respeito à defesa da terra, da cultura e da vida dos Povos Indígenas. A minha trajetória é marcada pelo profundo respeito às raízes ancestrais e por um compromisso contínuo com a proteção do meio ambiente.
Desde 2006, atuo nas atividades do Instituto Raoni, de voluntário a Coordenador de Gestão e Proteção Territorial. Nessa posição, tenho desempenhado um papel fundamental no fortalecimento das ações de Monitoramento e Vigilância na defesa dos territórios Indígenas, apoiando as comunidades em estratégias de proteção contra invasões, desmatamento e outras ameaças externas e internas como as mudanças climáticas.
Além da minha atuação técnica, sou reconhecido como um ativista Indígena comprometido com a causa ambiental e com a garantia dos direitos dos povos originários. Participo de fóruns, encontros e articulações políticas em níveis local e nacional, levando a voz dos Kayapó e de outros povos da floresta para espaços de decisão.
Minha dedicação reflete a continuidade de uma luta histórica e a esperança em um futuro onde os territórios Indígenas sejam respeitados e preservados como patrimônios vivos da humanidade. Sou inspirado pela luta do meu tio-avô Cacique Raoni, liderança que desde sempre usou essas palavras sábias: “Respiramos o mesmo ar, bebemos a mesma água, então é dever nosso cuidar do que temos, que possamos ter uma floresta para nossos filhos e netos”. Com esse pensamento, ele expressou ao mundo suas preocupações sobre as mudanças causadas pelo homem na Terra e o que poderia acontecer se não cuidarmos dela.
Sou inspirado pelo respeito que meu tio-avô conquistou ao longo de sua vida de luta. Ele lutou muito para que os Povos Indígenas fossem respeitados. Embora muitas vezes fosse difícil e muitas pessoas não compreendessem suas preocupações, ele nunca desistiu e sempre manteve seu espírito forte. Ele incentivava os Povos Indígenas a serem mais unidos, e é meu dever continuar seu legado.
Cacique Nailton Pataxó
A
LUTA ANCESTRAL DAS RETOMADAS
E A GRANDE LIDERANÇA DO POVO PATAXÓ HÃ HÃ HÃE
Ochefe Nailton Muniz Pataxó (Pataxó/ Tupinambá), xamã guerreiro, é um dos líderes mais emblemáticos do movimento indígena no Brasil, especialmente na Bahia. Sua história de vida está intimamente ligada à trajetória de resistência, reocupação e afirmação territorial de seu povo na Terra Indígena Caramuru-Catarina Paraguaçu, no município de Pau Brasil, sul da Bahia
Nailton é mais que um cacique, é uma voz ancestral das Retomadas, um elo entre a memória dos mais velhos, dos Encantados, e o futuro das novas gerações. Viveu sua infância cercado pelas práticas tradicionais de cultivo e convívio comunitário que, como tantas outras famílias Indígenas, foi expulso de sua terra por pressões de fazendeiros com o apoio do estado. Trabalhou desde cedo em atividades pesadas, como pedreiro em São Paulo, onde viveu por alguns anos. Seu retorno à Bahia, orientado por sua família, foi o início de uma nova etapa: a articulação política com o povo Pataxó e o engajamento direito nas lutas por território, dignidade e existência.
A partir dos anos 1980, o cacique tornou-se um dos principais nomes na luta pela retomada do território ancestral Pataxó. Ao lado de sua família (os Muniz) e de outras lideranças, promoveu a ocupação da Fazendo São Lucas, onde resistiriam por 17 anos, enfrentando reintegrações violentas, ameaças, criminalização e a dura negligência do sistema judicial. Liderou também retomadas emblemáticas em áreas como Baixa Alegre, Tita Machado, São Sebastião e Bom Jesus, todas no estado da Bahia, um dos mais violentos contra Indígenas no país. Mesmo diante da brutalidade da polícia e da perseguição promovida por fazendeiros com respaldo do poder político e midiático, os Pataxó não recuaram.
Além das lutas locais, o cacique também participou ativamente das mobilizações nacionais Indígenas, especialmente na articulação dos Povos Indígenas para garantir os direitos constitucionais de 1988. Seu protagonismo contribuiu para que os Povos Indígenas fossem reconhecidos como sujeitos de direito no texto constitucional, uma das maiores conquistas históricas do movimento Indígena brasileiro e um marco na história mundial da luta Indígena. O ano de 2012 marca a grande vitória de sua luta e do povo Pataxó: a consolidação da retomada do território do Rio Pardo. O processo levou o Supremo Tribunal Federal a finalmente julgar a ação de nulidade de títulos, num gesto tardio diante da justiça já feita pelas mãos dos próprios Pataxós. Como afirma Nailton: “o Supremo só confirmou o que nós já tínhamos feito”.
Quem visita Nailton vai perceber a presença de muitos jovens ao seu redor. Como música, contação de histórias, de lutas e retomadas. Ele trabalha incansavelmente na formação política e espiritual de jovens, idealizando simulações e treinamentos com os mais novos para que se tornem como ele, guerreiros e articuladores, conscientes da missão ancestral que carregam os filhos da terra. Essa pedagogia da luta e da retomada, feita com sabedoria, coletividade e estratégia, fortaleceu a juventude Pataxó para seguir ocupando, denunciando e cuidando do território.
Figura de firmeza delicada, Nailton traz dores profundas como a morte de parentes próximos como de sua irmã e do pajé Nega Pataxó em 2024. Os dois foram alvo de tiros durante um ataque de fazendeiros na Fazenda Inhuma durante um processo de retomada. Ele ficou ferido, se recuperou, fez o luto da irmã e como faz em seus rituais, bateu a lança no chão, e declarou “aqui é terra Indígena! Aqui fazendeiro não volta!”
Cacique Nailton e, hoje, uma das maiores referências de liderança Indígena no Brasil, sua história encarna a sabedoria dos anciãos e a força dos que nunca se renderam. É exemplo vivo de que retomar não é somente ocupar: é re-existir, com dignidade, no tempo e no território.

Foto cedida pelo chefe Nailton Muniz Pataxó.
Cleonice Pankararu Pataxó.
UM DIÁLOGO SOBRE O PODER DA HOSPITALIDADE RADICAL NO
ENFRENTAMENTO DE PROJETOS
DE DESTRUIÇÃO NO VALE DO JEQUITINHONHA

Neste diálogo, Cleonice Pankararu Pataxó (Pataxó), líder da Aldeia Cinta Vermelha, e Ângela Maria Martins Souza (Quilombola), líder do Quilombo Mutuca, falam sobre sua luta contra a mineração de lítio e a defesa de seus territórios no Vale do Jequitinhonha. Como força feminina, a hospitalidade radical vem das mulheres — especialmente das mulheres Indígenas e quilombolas — que acolhem e resistem simultaneamente. Elas cuidam da terra, das pessoas e da memória. Mesmo sofrendo com a exploração e a violência, continuam a abrir espaço para os outros, sem perder sua força ou suas culturas.
Cultural Survival: O que é “hospitalidade radical”?Cleonice Pankararu Pataxó: A hospitalidade radical é uma prática recíproca dos Povos Indígenas e das comunidades tradicionais há muito tempo. É uma resistência, uma condição e um instrumento importante para nós. Temos essa capacidade de nos unir para resistir ou nos dividir para resistir. No momento, em nosso território, estamos hospedando nossos parentes Xukuru, Kariri e Aranã. Eles chegam, nós os recebemos e eles nos ajudam de certa forma.

Ângela Souza
Foto superior por Paulo Henrique Figueiredo.
Foto inferior cortesia de Ângela Souza.
Ângela Souza: Da perspectiva da comunidade quilombola, como movimento, a hospitalidade radical é um gesto político de resistência e afirmação da vida coletiva. Hospedar é acolher sem transformar o outro em estrangeiro; é compartilhar comida, território e memória ancestral, reafirmando que a terra é um lugar de encontro, não de exclusão. A hospitalidade radical se opõe ao [ethos] colonial e capitalista que mercantiliza a hospitalidade, transformando-a em serviço. Receber é um ato de cuidado coletivo que fortalece os laços de solidariedade e amplia as redes de resistência diante do racismo estrutural, do patriarcado e do avanço do agronegócio e da mineração sobre os territórios. Enfrentamos o avanço da mineração de lítio desde 2020 no Vale do Jequitinhonha e no território Mutuca de Cima, um território quilombola. Essas empresas entram com a falácia da empregabilidade, com lucros que muitas vezes beneficiam empresas e investidores estrangeiros em detrimento das comunidades locais. Seu impacto causou danos ambientais e sociais irreversíveis. Como uma rede de resistência — hospitalidade radical dentro de nossa comunidade —, realizamos projetos para lutar contra a destruição do meio ambiente e contra as indústrias de mineração que afetam diretamente o território quilombola.
CS: Como a resistência criou alianças entre as comunidades quilombolas e Indígenas?
CPP: Essa ação contra a mineração de lítio só foi possível porque recebemos colaboração e apoio, como alimentos, material publicitário e apoio de companheiros Indígenas, da Cultural Survival e de outras instituições que representam os quilombolas, e até mesmo de universidades. Nós, povos de comunidades tradicionais, Povos Indígenas, pessoas excluídas, discriminadas, que sofrem racismo — essas práticas do colonialismo recaem sobre todos nós, porque nossa visão de mundo é diferente. É uma visão de mundo de coletividade, cordialidade e hospitalidade, que difere das práticas do colonizador e do explorador. É por isso que as alianças são muito importantes. Temos feito alianças desde a invasão do Brasil.
AS: A resistência contra a mineração e outras formas de colonialismo fortaleceu as alianças entre as comunidades quilombolas e Indígenas, pois ambas enfrentam ameaças semelhantes: a invasão de seus territórios, a destruição ambiental e a violação de seus modos de vida. Esses encontros têm se configurado como espaços de hospitalidade radical, onde acolher significa reconhecer no outro um aliado na luta pela terra, pelo bem viver e pela salvaguarda das memórias ancestrais. A parceria com a Cultural Survival apoia projetos de comunidades quilombolas e Indígenas em defesa dos direitos territoriais e da gestão comunitária dos recursos naturais.
CS: Que mudanças são essenciais para que essas comunidades prosperem juntas?
AS: São necessárias mudanças estruturais profundas. A primeira é a garantia total dos direitos territoriais, assegurando que nossos territórios não sejam violados pela mineração, pelo agronegócio ou por projetos que degradam o meio ambiente. É essencial fortalecer políticas públicas que reconheçam o conhecimento tradicional, garantam a soberania alimentar e promovam modelos de economia solidária que respeitem nossos modos de vida. Outra mudança fundamental [deve ser] o reconhecimento político e social de que os quilombolas e os Povos Indígenas são guardiões da terra e da biodiversidade, e que suas práticas de cuidado não podem ser tratadas como obstáculos, mas como alternativas viáveis e necessárias para um futuro sustentável.
CCP: Nossa resistência contra a mineração mostrou que devemos fortalecer alianças. A hospitalidade radical é a base para resistir e prosperar. É na reciprocidade e na coletividade que podemos nos proteger e pensar no futuro.
PLANTAS SÃO VIDA, SAÚDE E CONHECIMENTO
O PAPEL DA SOBERANIA ALIMENTAR NA AMAZÔNIA BRASILEIRA
Carmem Cazaubon (EQUIPE CS)
João Felipe Yawanawá da Silva (Yawanawá), também conhecido como Tuata, vem de uma família de agricultores e curandeiros tradicionais. Ele carrega o legado de sua família através de seu trabalho com plantas e medicinas tradicionais, recebendo da natureza inspiração para sua arte e força para seu trabalho. Tuata fez parte do programa de Bolsas para Jovens Indígenas da Cultural Survival em 2024.
O povo Yawanawá vive na Terra Indígena Rio Gregório, na cabeceira do rio Gregório, localizada no município de Tarauacá, no Acre, na Amazônia brasileira. “Somos conhecidos como o ‘povo do porco-espinho’. Em nossa língua, yawa se refere ao porco-espinho da floresta, o pecari, enquanto nawa significa povo. Atualmente, somos cerca de 1.300 pessoas. Estamos sempre reunidos, trabalhando coletivamente”, diz Tuata.
Junto com sua família, Tuata é fundador e líder do Centro Emâ Vena, que nasceu de um sonho coletivo. Na língua Yawanawá, Emâ Vena significa “lugar novo”, um recomeço, o início de uma nova vida e um novo tempo. É também o nome do projeto desenvolvido por Tuata em parceria com a Cultural Survival durante seu programa de bolsa.
Tendo aprendido com seu avô as alegrias de plantar, colher e caçar em seu território tradicional e o valor de fornecer alimento para a família e a comunidade, Tuata percebeu que havia uma necessidade urgente de maior soberania alimentar entre o povo Yawanawá. As grandes distâncias entre seu território e as poucas cidades vizinhas, combinadas com os desafios de transporte e a dependência de fontes de alimentos estrangeiras, o motivaram a se conectar com sua tradição e começar a trabalhar com a terra.
Tuata começou concentrando-se em frutas e vegetais (culturas através das quais seria possível alcançar a autonomia alimentar). Entre as árvores plantadas estavam: banana, limão, laranja, abacate, tangerina e mamão. Ele também plantou pimentas e espécies locais, como cupuaçu, mandioca e açaí. Tuata supervisionou todas as etapas do projeto, que envolveu a seleção das áreas de plantio, a preparação do solo, a construção dos canteiros, a coleta de mudas, o plantio e o cuidado das mudas.
“Aprendi muito sobre como alocar os recursos e planejar as atividades. Foi um desafio e senti uma grande responsabilidade. Conseguimos através do trabalho duro e do respeito; aprendendo e crescendo uns com os outros”, diz ele.
Embora Tuata liderasse a maioria das atividades, amigos e familiares também se envolveram profundamente com o projeto. A comunidade se uniu por um objetivo comum, entendendo que os benefícios do trabalho seriam compartilhados por todos.
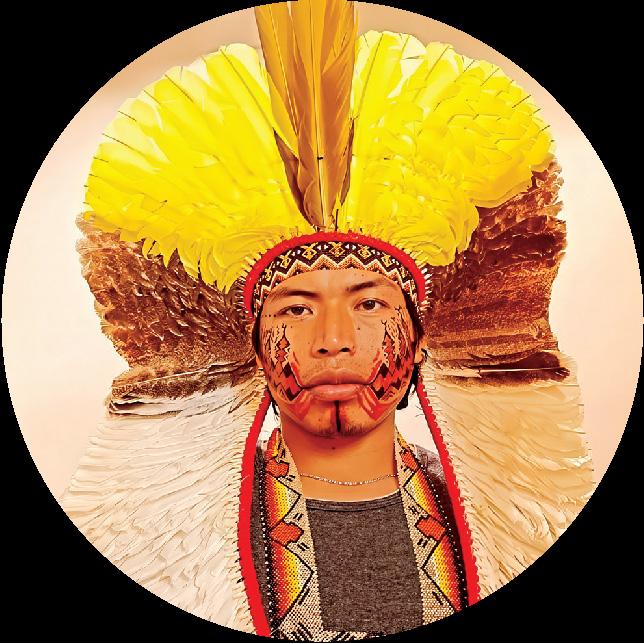

A natureza foi uma inspiração constante para Tuata, mas também representou seu maior desafio. Em 2024, a Amazônia enfrentou o pior déficit pluviométrico de sua história, tão significativo que os principais rios da bacia amazônica atingiram os níveis mais baixos já registrados. O município de Tarauacá passou o ano inteiro em seca, registrando alguns dos níveis mais extremos da região.
Essa seca severa, entendida como resultado das mudanças climáticas e do desmatamento, coincidiu com as fases iniciais do projeto Emâ Vena, quando as plantas estavam mais vulneráveis. Tuata viu suas primeiras mudas sofrerem com essas condições adversas, e muitas foram perdidas. Ele conta que seu entusiasmo inicial foi abalado, mas que, com dedicação, colaboração e trabalho duro, os desafios foram superados. “Estava tão seco que até os peixes do rio morreram. Mas algumas plantas resistiram, e isso foi lindo”, lembra ele.
Embora seu projeto tenha chegado ao fim, Tuata está motivado a dar continuidade ao trabalho iniciado. “Meu desejo é cada vez plantar mais e ter mais árvores. É isso que imagino para minha vida aqui, para minha casa, minha família e minha comunidade: ter frutas e alimentos não só para mim, mas para todos aqueles que vêm à nossa casa e à nossa aldeia; colher da nossa terra, da nossa casa, e oferecer à nossa família, aos nossos filhos.”
Tuata também sonha em reflorestar seu território com árvores nativas e começar um canteiro de nii pei (plantas medicinais), garantindo a manutenção cultural tanto das espécies vegetais quanto do conhecimento tradicional sobre essas plantas medicinais. “As nii pei cuidam do nosso corpo, da nossa saúde e do nosso espírito. Sem saúde, não podemos cuidar das nossas famílias e da nossa floresta. É um conhecimento muito importante para o nosso povo, que deve continuar sendo transmitido às gerações mais jovens.”
chegando à aldeia.
João Felipe Yawanawá da Silva.
Mudas
Inserção: João Felipe Yawanawá da Silva.
MULHERES INDÍGENAS OGIEK

Guardiãs da floresta Mau e defensoras da soberania alimentar


Atividades realizadas pelo projeto “Sementes da Mudança”, apoiado pela KOEF.
Nataly Domicó (CONSULTORA DE CS)
OPovo Ogiek é uma das comunidades mais antigas e resilientes do Quênia. Historicamente, eles habitaram o Complexo Florestal de Mau (a maior floresta da África Oriental) que constitui não apenas seu território ancestral, mas também uma fonte essencial de sustento e espiritualidade. No entanto, nas últimas décadas, os Ogiek têm enfrentado inúmeros desafios que ameaçam tanto seu território quanto seu modo de vida tradicional. A perda sistemática de suas terras ancestrais e a negação do direito à autodeterminação enfraqueceram profundamente suas práticas culturais, sociais e espirituais. Essa situação colocou em risco a transmissão intergeracional de conhecimentos, especialmente aqueles relacionados à conservação ambiental e à soberania alimentar.
Nos últimos anos, a situação do Povo Ogiek começou a receber atenção internacional. Um marco importante foi a decisão histórica do Tribunal Africano de Direitos Humanos e dos Povos, que declarou ilegal o despejo forçado dos Ogiek da Floresta de Mau. Essa decisão reconheceu o papel fundamental que os Povos Indígenas desempen-
ham como guardiões dos ecossistemas locais e reafirmou a necessidade de respeitar seus direitos territoriais e culturais.
Apesar de muitos obstáculos, os Ogiek têm desenvolvido estratégias comunitárias para enfrentar essas adversidades, com foco especial na revitalização de sua autonomia e de suas práticas culturais. As mulheres Ogiek têm desempenhado um papel central e transformador nesse processo, liderando ações voltadas à proteção, recuperação e transmissão de conhecimentos ancestrais relacionados à alimentação, à terra e à biodiversidade.
Um exemplo desses esforços é o projeto “Seeds of Change: Enhancing Climate Resilience and Adaptation for the Ogiek Indigenous Peoples” (“Sementes da Mudança: Fortalecendo a Resiliência Climática e a Adaptação do Povo Indígena Ogiek”), uma iniciativa da Koibatek Ogiek Women and Youth Network (KOWYN) com apoio do programa Guardiões da Terra da Cultural Survival. Esse projeto concretizou uma abordagem profundamente enraizada na comunidade, combinando conhecimentos tradicionais Indígenas com soluções práticas e sustentáveis adaptadas ao contexto local.
Como parte dessa iniciativa, a KOWYN realizou atividades significativas nas escolas primárias de Seguton e Sabatia, onde foram plantadas mais de 500 árvores frutíferas. Essas árvores, além de simbolizarem resiliência e esperança, transformaram os terrenos escolares vazios em futuras florestas alimentares. Sua produção contribuirá para programas de alimentação escolar e servirá como ferramenta de ensino para promover a educação ambiental entre crianças e jovens. O trabalho também foi fortalecido junto a diversos grupos de mulheres Ogiek (incluindo Poror, Kwomberiet, Tabut Visoi e Tachasis) que participaram ativamente na criação de hortas familiares com sistemas de
Todas as fotos são da Rede de Mulheres e Jovens Koibatek Ogiek.
compostagem, melhorando significativamente a nutrição, a segurança alimentar e a autossuficiência das famílias.
“Sempre soubemos como cultivar nosso próprio alimento, mas estávamos perdendo esse conhecimento. Agora, com o banco de sementes e os treinamentos, sinto que estamos recuperando o que é nosso. Eu planto sabendo que essas sementes são nossas para proteger”, afirma Rebecca Chelangat, integrante do grupo de mulheres Tachasis.
Os treinamentos oferecidos no âmbito do projeto KOWYN forneceram ferramentas práticas sobre agricultura orgânica, compostagem, consorciação de culturas e conservação de sementes tradicionais. Isso levou à criação de quatro hortas demonstrativas e à produção de mais de 100 mudas, que posteriormente foram plantadas em casas Ogiek. Além disso, iniciou-se um processo sistemático de documentação das sementes Indígenas locais, visando estabelecer um banco comunitário de sementes. Essas ações fortaleceram a segurança alimentar e a saúde das famílias, ao mesmo tempo, em que revitalizam sistemas de conhecimento ancestral, aumentam a resiliência climática e empoderam as mulheres como guardiãs da cultura alimentar e da biodiversidade do povo Ogiek.
As sementes nativas representam o patrimônio genético alimentar dos Povos Indígenas. No entanto, uma das estratégias coloniais, que persiste até hoje no modelo agrícola industrial, tem sido justamente enfraquecer esse patrimônio, incentivando o desmatamento, promovendo monoculturas, contaminando os solos com agrotóxicos e substituindo dietas tradicionais por alimentos ultraprocessados, afetando gravemente a saúde e a autonomia das comunidades.
Na Cultural Survival, apoiamos fortemente iniciativas que promovem a recuperação de alimentos nativos e naturais, em processos de autodeterminação, autonomia territorial e revitalização cultural. Como destacado em uma edição de 2024 da revista Semillas:“As sementes nativas são a base da soberania dos povos e da autonomia territorial e alimentar. Recuperá-las e protegê-las é preservar o conhecimento ancestral, as identidades culturais e os meios de subsistência das comunidades.”
O projeto KOWYN reafirma a importância de abordagens comunitárias centradas nos conhecimentos e valores Indígenas. Sua implementação promoveu a participação ativa de anciãos, mulheres, jovens e crianças Ogiek, fortalecendo o sentimento de pertencimento, a memória
coletiva e o orgulho cultural. Por meio de ações como a conservação de sementes, a agricultura comunitária e o manejo ambiental sustentável, o povo Ogiek demonstra que é possível resistir, curar e reconstruir o tecido comunitário a partir de suas próprias raízes.
A valiosa experiência do projeto KOWYN nos lembra que sustentabilidade e resiliência climática não se constroem somente com tecnologias modernas, mas com o reconhecimento e o fortalecimento dos saberes ancestrais que cuidam da terra há gerações. O trabalho que realizam para recuperar suas sementes, seus alimentos e sua autonomia não é apenas uma força local, é também uma lição sobre a importância de valorizar a diversidade cultural, proteger a biodiversidade e defender o direito dos povos de decidir sobre seus territórios e suas vidas.
Em um mundo marcado pelas mudanças climáticas, pela crise alimentar e pela perda de identidade, o processo conduzido pelas mulheres Ogiek nos convida a refletir sobre a forma como habitamos o planeta, e a compreender que, nas sementes nativas que elas recuperaram e guardaram, germinaram também a esperança e a possibilidade de construir um futuro mais justo, que respeita os direitos dos Povos Indígenas e sua autodeterminação.
Em 2024, a Koibatek Ogiek Women and Youth Network recebeu um subsídio do Fundo Guardiões da Terra (KOEF) para apoiar seu trabalho. O KOEF é um fundo liderado por Indígenas dentro da Cultural Survival, criado para apoiar projetos de defesa e desenvolvimento comunitário de Povos Indígenas. Desde 2017, o KOEF apoiou 440 projetos em 42 países, totalizando US$ 2.667.147 em pequenos subsídios e apoio técnico complementar.
O Fundo Guardiões da Terra (KOEF) concede doações de até US$ 12.000, destinadas diretamente a comunidades, coletivos, organizações e governos Indígenas tradicionais, para apoiar projetos de desenvolvimento autônomo baseados em valores Indígenas. Fundamentado na Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, o programa da Cultural Survival adota uma abordagem baseada em direitos, promovendo soluções Indígenas de base por meio da distribuição equitativa de recursos às comunidades. www.cs.org/koef

DEFENDENDO OS DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS E SUA LUTA PELA IDENTIDADE
Ñushpi Quilla Mayhuay Alancay, Coodernadora de defensa
Identidade
Sou Kolla por parte de mãe e Quéchua por parte de pai. Tive a sorte de crescer em uma família orgulhosa de suas identidades, de sua cosmovisão e de sua filosofia de vida, sem sentir vergonha, sofrer violência ou perseguição. Meu nome em Quéchua, “Ñushpi Quilla”, significa “Pequena Lua”. No Registro Civil, não acreditaram no meu pai, que é falante nativo de Quéchua, quando ele explicou o significado do meu nome. Ele e minha mãe tiveram que procurar um dicionário de Quéchua (escrito por um estadunidense) e pagar 85 dólares para registrar o nome considerado “exótico”.
Comunidade
Cresci com uma compreensão filosófica comunitária e coletiva, baseada na convivência harmoniosa e na reciprocidade com meus outros irmãos: seres humanos, plantas, animais, rios, montanhas. No meu primeiro ano de vida participei da cerimônia de corte de cabelo chamada Sucharrutuy. Todos os anos, no mês de junho, realizamos a cerimônia do Inti Raymi, e em agosto fazemos nossa oferta à Pachamama.
Ativismo
Meus ancestrais participaram de movimentos históricos, políticos, sociais e culturais na Argentina. Graças a eles, pertenço a uma geração cujos direitos foram reconhecidos pelo Estado argentino, direitos pelos quais continuamos lutando para que sejam efetivamente aplicados. Tive a oportunidade de acompanhar meus pais em diversas atividades e eventos ao nível local, nacional e internacional na luta por nossos direitos. Minhas convicções também foram moldadas por marchas e protestos ao lado de aposentados, trabalhadores, professores... indo às ruas para exigir e defender direitos sociais e coletivos.
Herança e Interesses
Sou filha de artistas Indígenas. Meus pais me apresentaram à nossa cultura através da música, da dança, do canto e da poesia, compreendendo a arte como uma ferramenta de transformação política e social. Cresci em um ambiente artístico e cultural maravilhoso, repleto de mestres incríveis, transmissores de histórias, realidades e pensamento crítico. Ser filha de artistas Indígenas com convicções claras e uma postura política consciente sobre o significado da arte, da cultura e da identidade moldou parte de quem eu sou e das decisões que tomo. Minha mãe e meu pai, Anahí Alancay e Miguel Mayhuay, são e sempre serão meus guias na vida.
Estudos e Vida Profissional
Estudei Direito, uma área de formação de base ocidental e liberal. No entanto, sou uma advogada Indígena que luta pelo reconhecimento de nossos direitos, de nossos sistemas jurídicos e formas de governança, a partir de uma perspectiva social, política, empática, comunitária e acessível. Em toda minha formação, tanto pessoal quanto profissional, busquei agir com respeito e responsabilidade em relação à minha identidade, à luta e à resistência de meus ancestrais e de meus irmãos Indígenas.

Reconhecimento das Mulheres Indígenas
Acredito que toda mulher Indígena é uma fonte de inspiração e um símbolo de luta e resistência. Nossas líderes históricas e contemporâneas possuem uma força que inspira, como Micaela Bastidas, Rigoberta Menchú, Luzmila Carpio, Bartolina Sisa, Berta Cáceres e Aimé Painé, irmãs e líderes conhecidas, e também aquelas cujos nomes desconhecemos porque acabaram desaparecidas ou assassinadas. Somos reconhecidas como guardiãs da natureza, portadoras de nossas culturas e defensoras da terra. No entanto, ser uma mulher Indígena hoje significa viver constantemente colocando em risco nossas vidas e nossa integridade física.
Fazendo Parte da Família Cultural Survival
Sou apaixonada por história, pelas relações culturais, pela valorização de nossas cosmovisões e identidades, e pelo trabalho de incidência internacional e publicações da Cultural Survival. Quis fazer parte do Programa de Defesa da Cultural Survival porque ele representa tudo o que eu buscava: trabalhar com comunidades Indígenas de todo o mundo, realizar incidência local e internacional, dialogar com organizações de direitos humanos e de Povos Indígenas, desenvolver estratégias integrais de defesa e garantir o respeito ao direito dos Povos Indígenas à autodeterminação. E eu consegui!
Visão para o Futuro
Recentemente, consegui que a Universidade de Cuyo aprovasse uma mudança na redação do juramento de formatura, para que refletisse minha identidade e cultura Indígenas: “Jura por Pachamama e Jatun Taita Inti, pela memória de seus ancestrais, pela Constituição Nacional, pelos direitos dos Povos Indígenas e por sua honra?” Nos próximos anos, quero desenvolver e aplicar meus conhecimentos em diferentes sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos e promover o diálogo e o aprendizado com líderes Indígenas de Abya Yala (América Latina) e de todo o mundo.
Ñushpi Quilla Mayhuay Alancay, à direita, com os pais.
ARTE, CULTURA E JUSTIÇA AMBIENTAL
ELIZABETH DURAZNO
Lucas Kasosi (MAASAI, ESTAGIÁRIO DE CS)
Elizabeth Durazno (Kichwa Cañari), uma artesã de Río Blanco, paróquia de Molleturo, no Equador, é uma força ativa no Coletivo Warmi Muyu. Por meio de sua arte, Durazno desafia as forças que ameaçam a cultura, a terra e o futuro de sua comunidade. Como criadora e defensora, ela usa a tecelagem como meio de expressão e resistência, combinando técnicas tradicionais com um compromisso com a sustentabilidade e o fortalecimento cultural.
O trabalho de Durazno não se resume a criar joias ou tecidos; trata-se de tecer resiliência. Cada peça, desde bolsas tecidas a colares cerimoniais, carrega um profundo significado espiritual e reflete uma cultura profundamente ligada à terra. Suas criações são mais do que objetos bonitos: são declarações de sobrevivência cultural diante do colonialismo, da degradação ambiental e da mercantilização da identidade Indígena.

O processo artístico de Durazno começa com uma profunda conexão com a terra e representa uma mistura de conhecimento tradicional e vida moderna, onde a generosidade da natureza está conectada às necessidades da vida contemporânea. “Nosso processo consiste em coletar sementes ou fibras, que chamamos de fios dos territórios”, explica ela. “Nós misturamos os do território e da cidade, porque há coisas que não podem ser encontradas nos campos.”
Usando materiais sagrados como lã, juta e a planta cabuya, as criações de Durazno refletem a paisagem andina. “Damos um nome a cada produto. Pensamos na natureza e fazemos com que o produto se identifique com uma planta”, diz ela. Cada item é uma encarnação viva da conexão de seu povo com a terra.
Para Durazno, a arte não é apenas criação, é uma forma de resistência. Sua comunidade enfrenta graves ameaças devido à expansão da mineração na província de Azuay, no Equador, que devastou ecossistemas e contaminou fontes de água. “Minha comunidade se localiza ao sul da cidade de Cuenca, na província de Azuay, no Equador. Fica diretamente no Páramo, que abriga ecossistemas pantanosos e biodiversidade”, explica ela. “No entanto, já sentimos impactos, porque o projeto de mineração foi instalado lá. Nossa comunidade foi destruída, assim como os ecossistemas, com perda significativa de fontes de água.”

Em resposta, Durazno e o Coletivo Warmi Muyu criaram seu projeto de Defesa e Conservação, que envolve não apenas arte, mas também trabalho na terra, como reflorestamento e práticas de vida sustentáveis. “Não queríamos apenas dizer não ao extrativismo da mineração. Queríamos apresentar uma alternativa”, diz ela. Esse esforço visa reconectar-se com sua terra, proteger seus recursos e criar uma visão para o futuro enraizada no respeito ao meio ambiente.
O Coletivo Warmi Muyu, fundado em 2018, um projeto da Sinchi Warmi, reflete o compromisso de Durazno com o empoderamento da comunidade. Apesar dos desafios iniciais, o coletivo floresceu, alimentado pela vontade coletiva das mulheres que plantaram as sementes do seu futuro. Warmi Muyu é uma combinação de warmi (mulher) e muyu (semente), significando o compromisso do coletivo com a promoção da cultura. As mulheres são a base do coletivo, garantindo que o trabalho reflita não apenas criatividade, mas também resiliência. Seu catálogo, “Mujer Páramo”, não é apenas uma coleção de arte — é um manifesto afirmando que as mulheres são as guardiãs da terra e de seu futuro.
A participação de Durazno no bazar da Cultural Survival dá visibilidade ao Coletivo Warmi Muyu. Mas, para ela, o Bazar é mais do que apenas uma oportunidade de reconhecimento. É também um lugar para se conectar com artesãos de mais de 50 países. “Não é apenas um mercado; é um espaço para compartilhar estratégias, aumentar a conscientização e falar diretamente com criadores e defensores da comunidade”, diz ela.
Através das sementes que ela perfura e das fibras que ela torce, Durazno está tecendo muito mais do que brincos e bolsas. Ela está tecendo resistência, memória e um futuro onde as mulheres Indígenas e suas comunidades são empoderadas pela cultura, e não apagadas pelo extrativismo. “Quando criamos, não estamos apenas fazendo um produto”, diz ela. “Estamos contando a história de nossos ancestrais, nossa terra e nosso futuro. Estamos tecendo uma tapeçaria de resistência, amor e esperança.” Durazno e o Coletivo Warmi Muyu representam uma visão em que arte, cultura e justiça ambiental andam de mãos dadas.
Junte-se a nós nos Bazares da Cultural Survival nos dias 13 e 14 de dezembro de 2025: Cyclorama, Boston, MA, e 20 e 21 de dezembro de 2025: WaterFire Arts Center, Providence, RI. bazaar.cs.org
Oportunidades de Financiamento para nossos Povos Indígenas
A Cultural Survival administra três fundos liderados por Indígenas:
Fundo Guardiões da Terra (KOEF) O Fundo Guardiões da Terra apoia projetos de desenvolvimento e defesa liderados por comunidades Indígenas autodeterminadas, por meio de subsídios de até $12.000 USD para organizações Indígenas de base, coletivos e gestão Ambiental e Territorial Indígena, lingua e cultural em seus projetos de desenvolvimento que respeitam e promovem seus valores e saberes Indígenas.
Fundo de Mídia Comunitária Indígena O Fundo de Mídia Comunitária Indígena oferece oportunidades para estações de rádio comunitárias Indígenas e outras plataformas de mídia fortalecerem suas habilidades, infraestrutura e sistemas. O Fundo aprimora os esforços comunitários para estabelecer e garantir a sustentabilidade de mídias controladas pela comunidade Indígena. São concedidos subsídios de até $12.000 para projetos individuais e projetos compartilhados por redes ou coletivos.
Programa de Bolsas para Jovens Indígenas As nossas bolsas/apoio financeiro apoiam jovens líderes Indígenas de 17 a 28 anos interessados em tecnologia, desenvolvimento de programas, jornalismo, rádio comunitária, mídia e defesa de direitos. As bolsas auxiliam os jovens a representarem e ampliar as vozes de suas comunidades, trazendo visibilidade para questões locais em debates globais, fortalecendo suas identidades culturais e suas habilidades de liderança.


