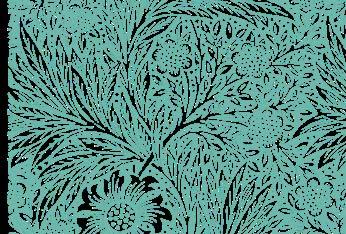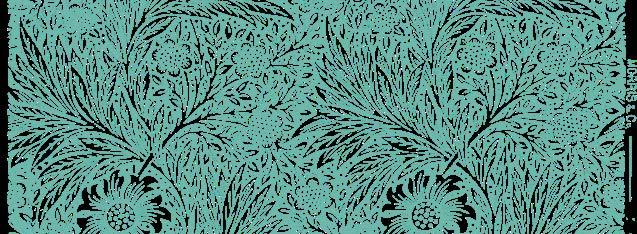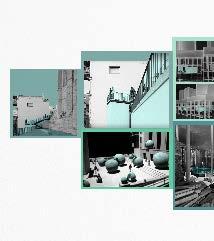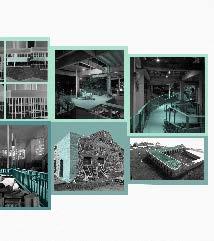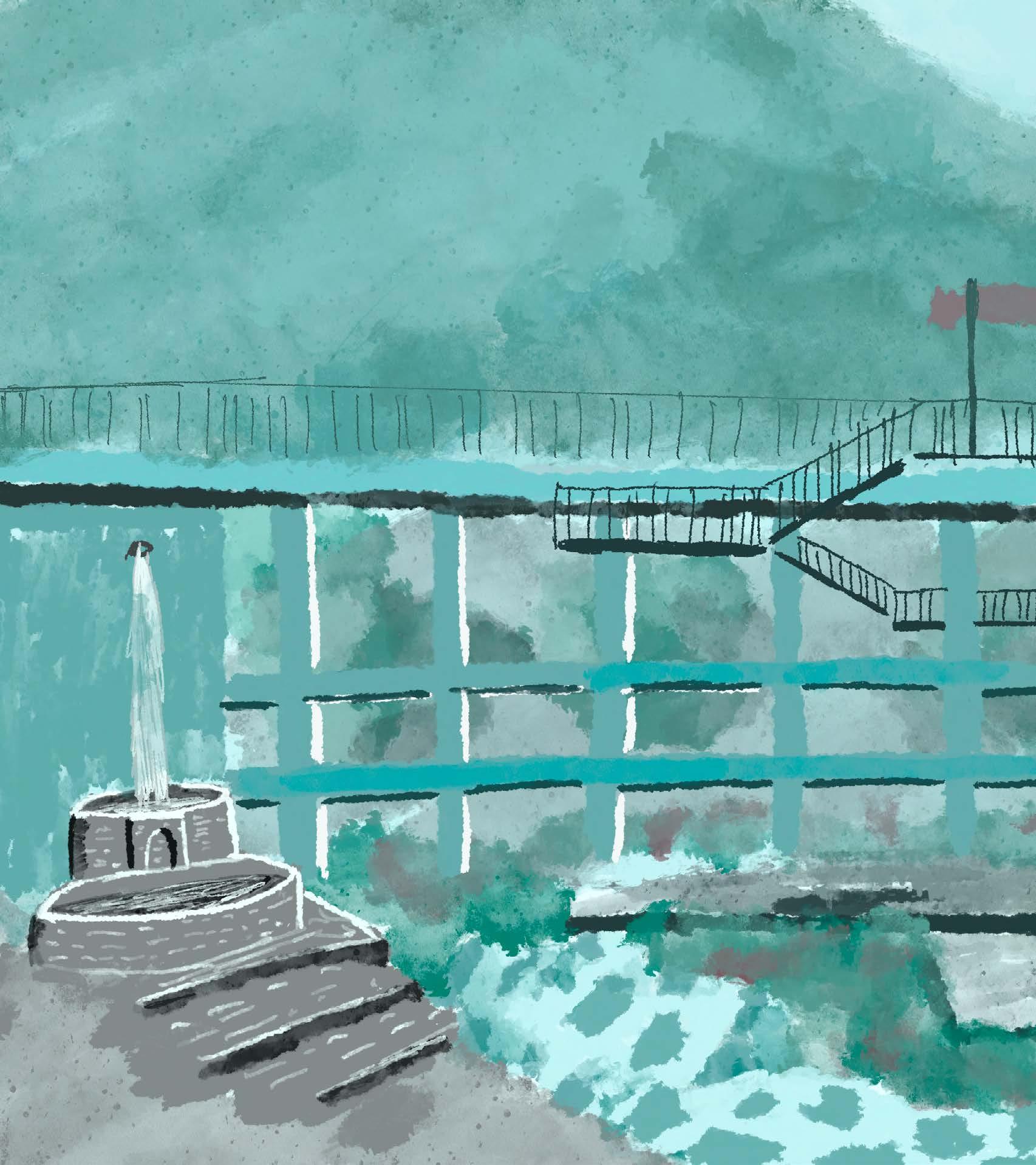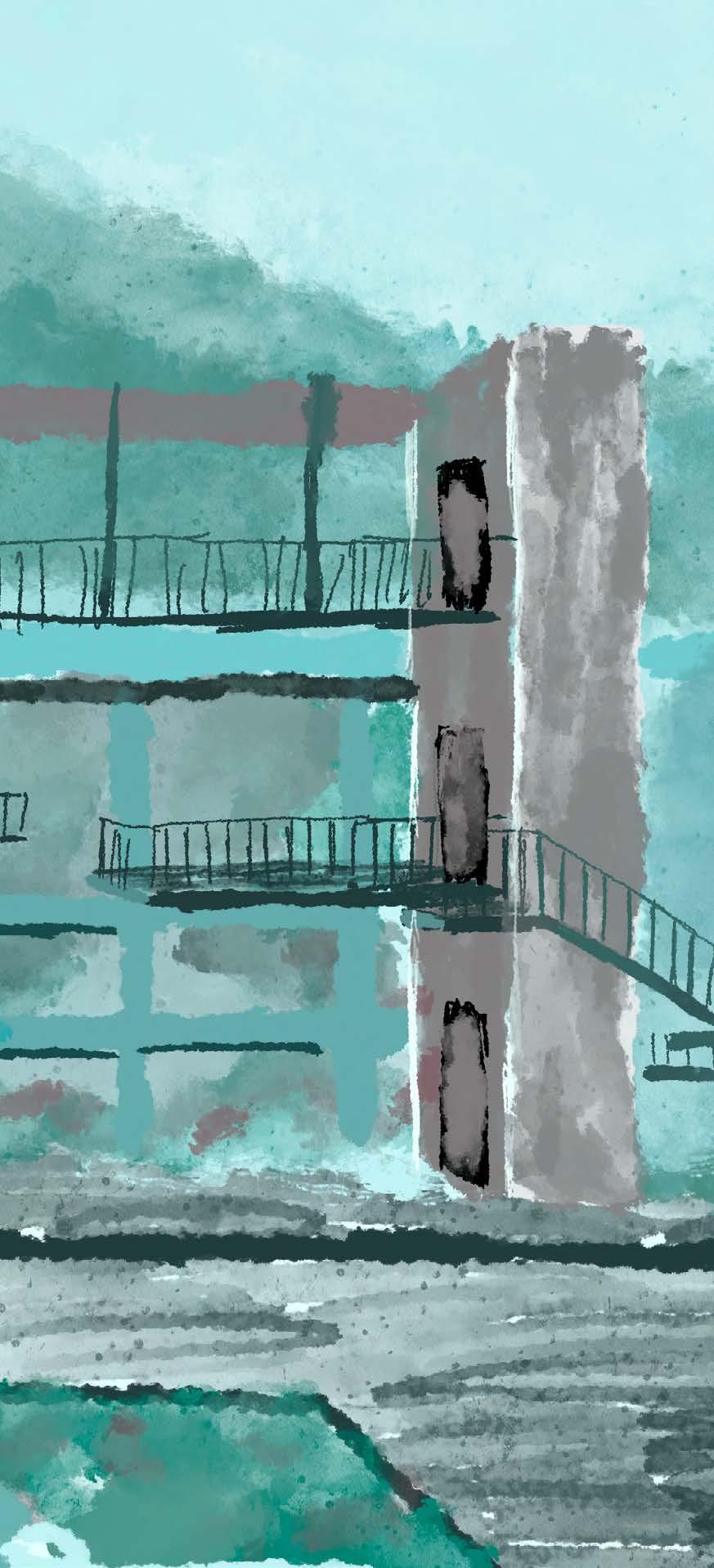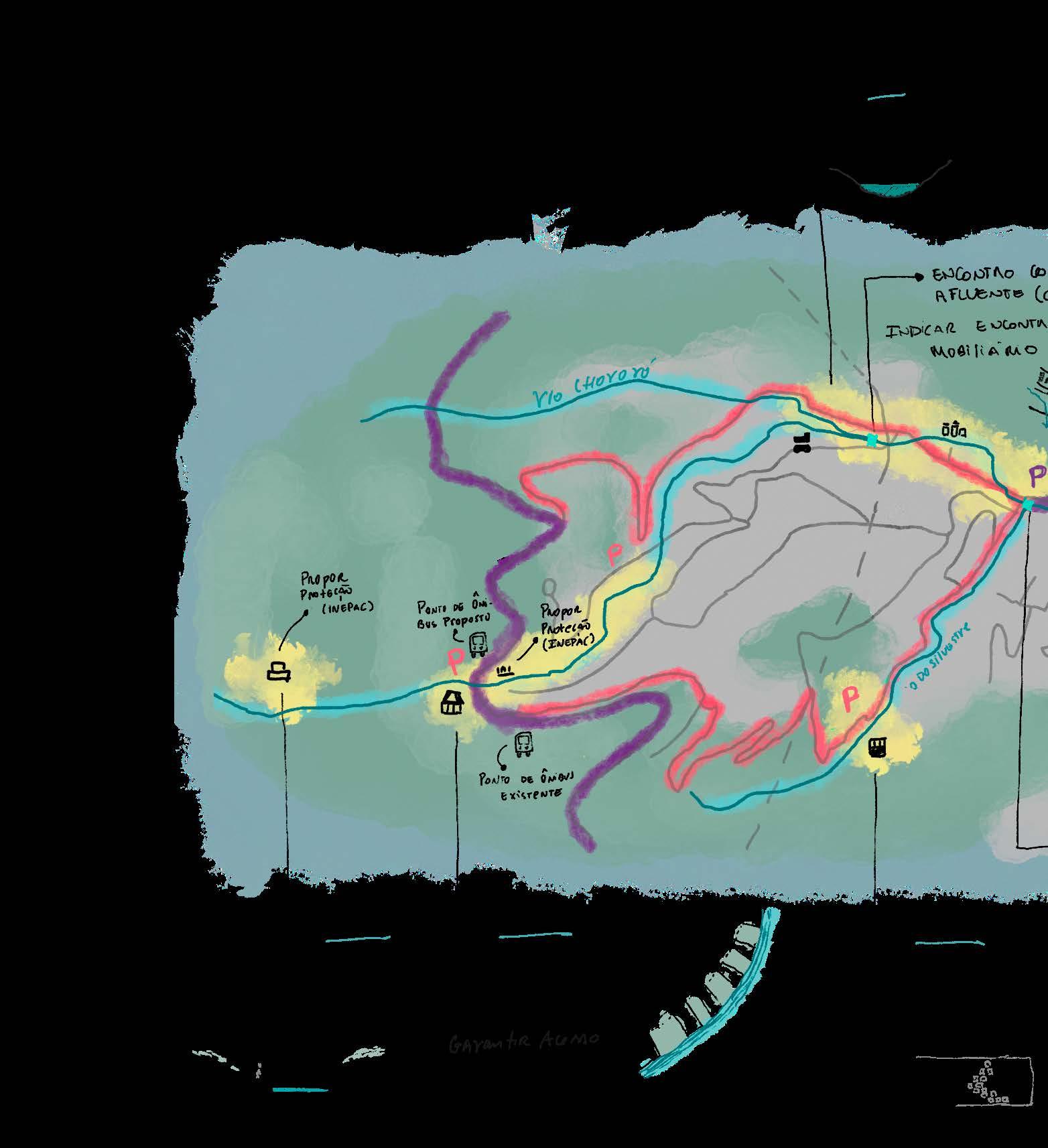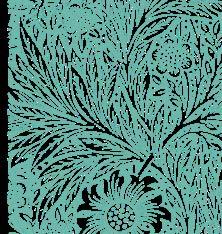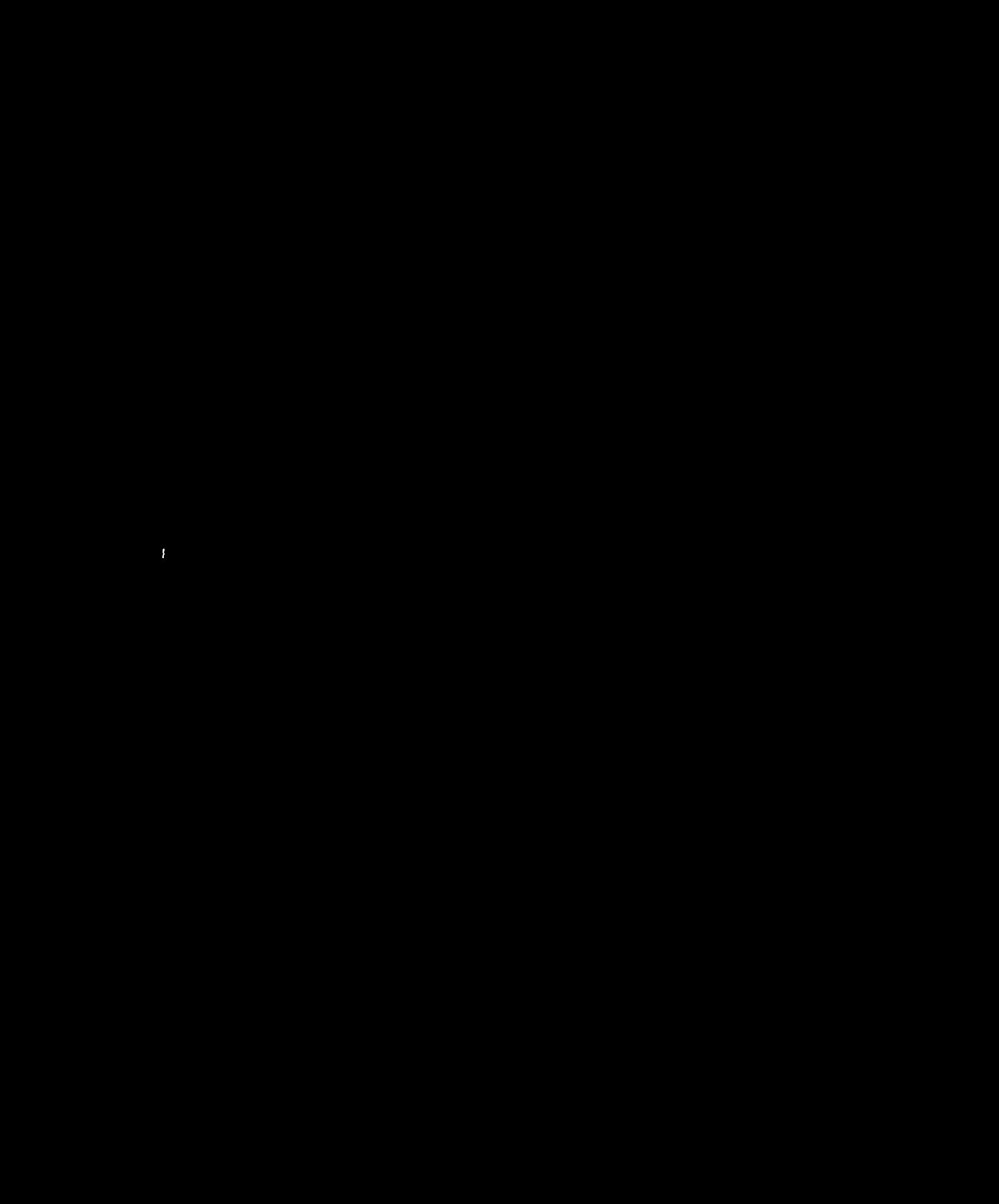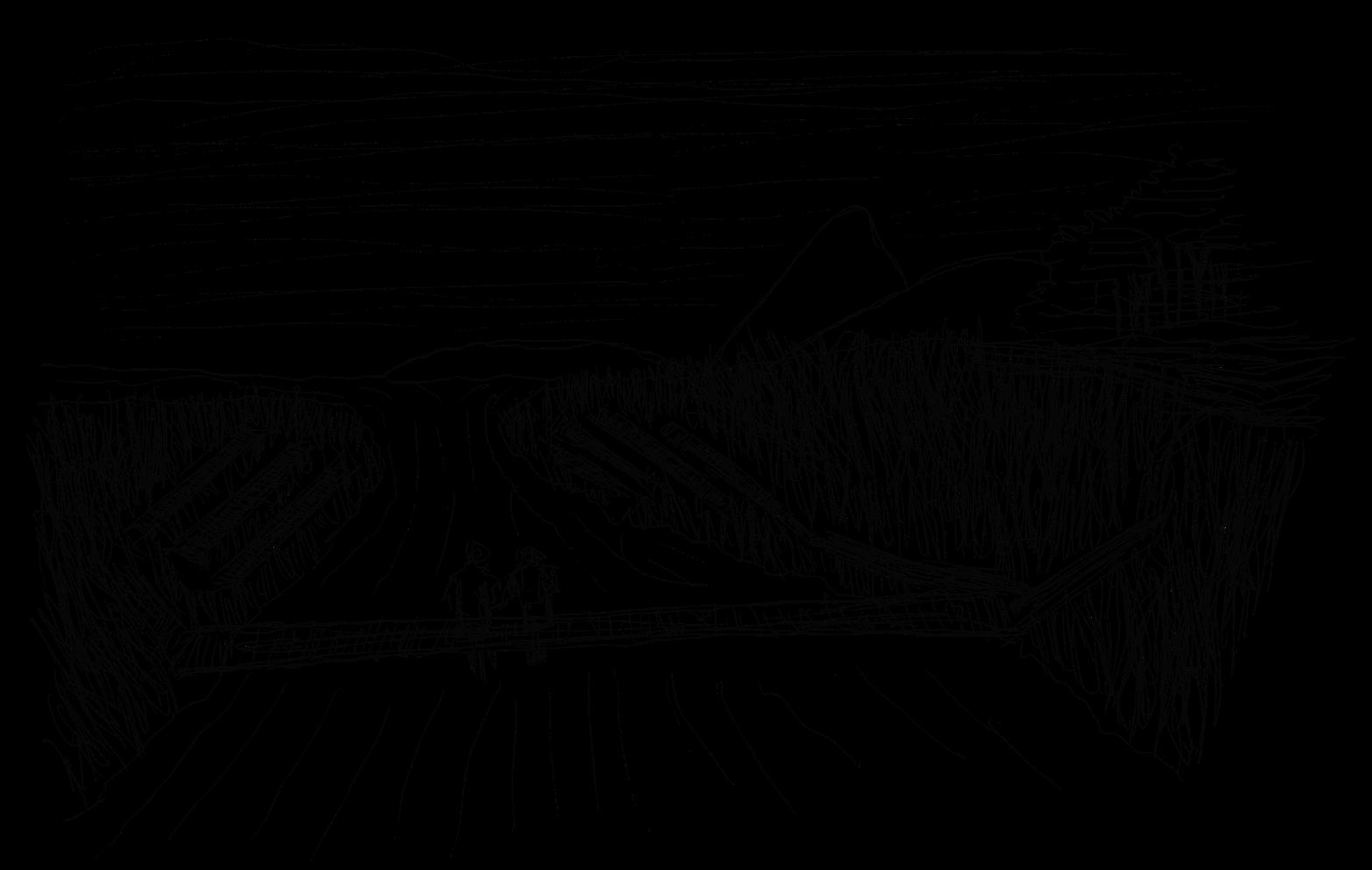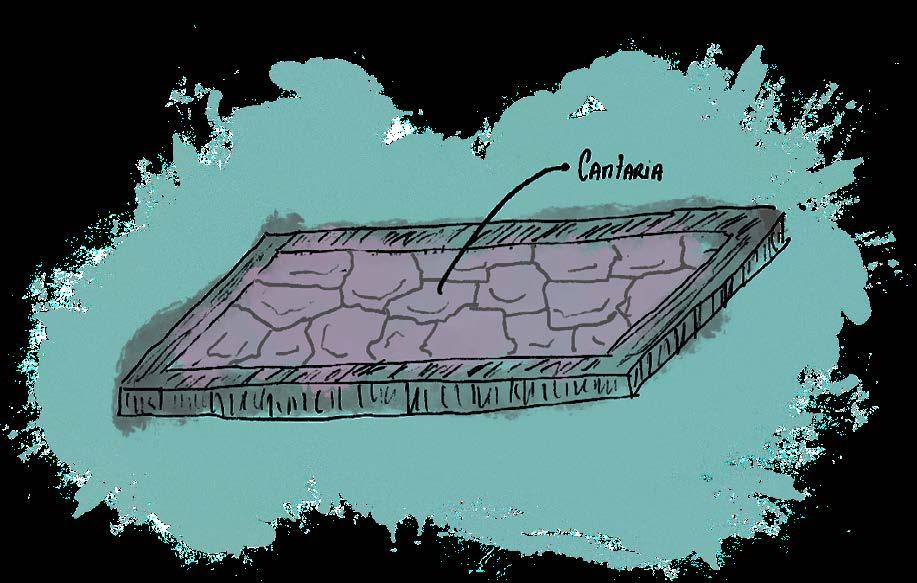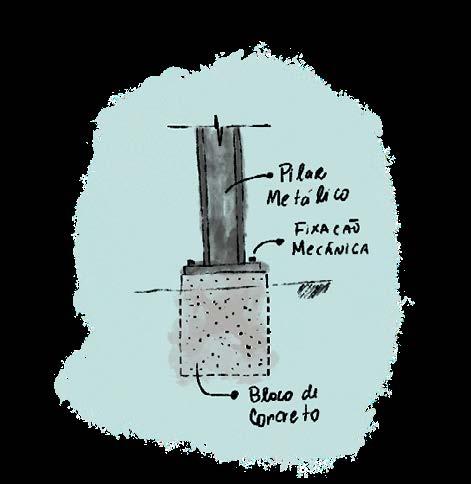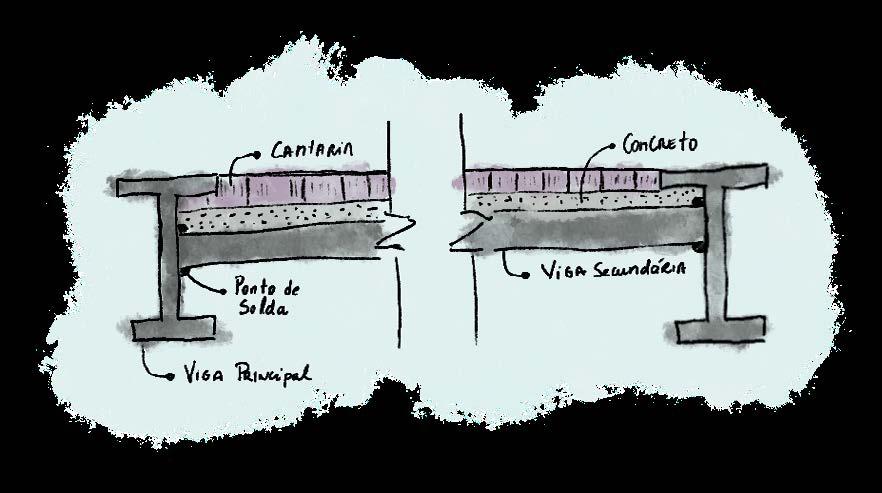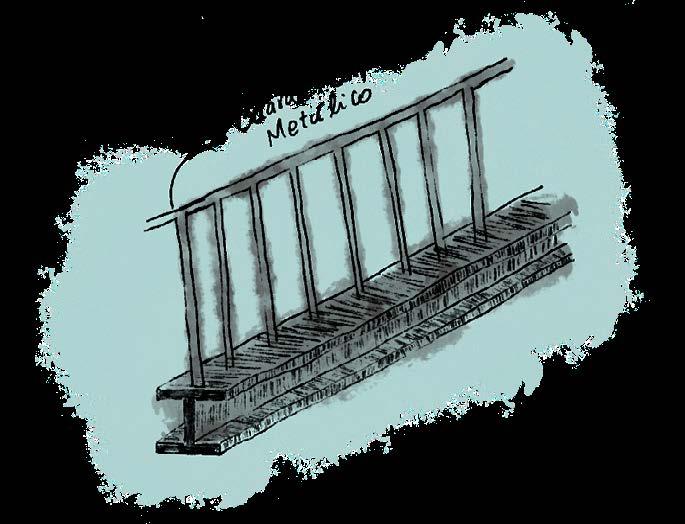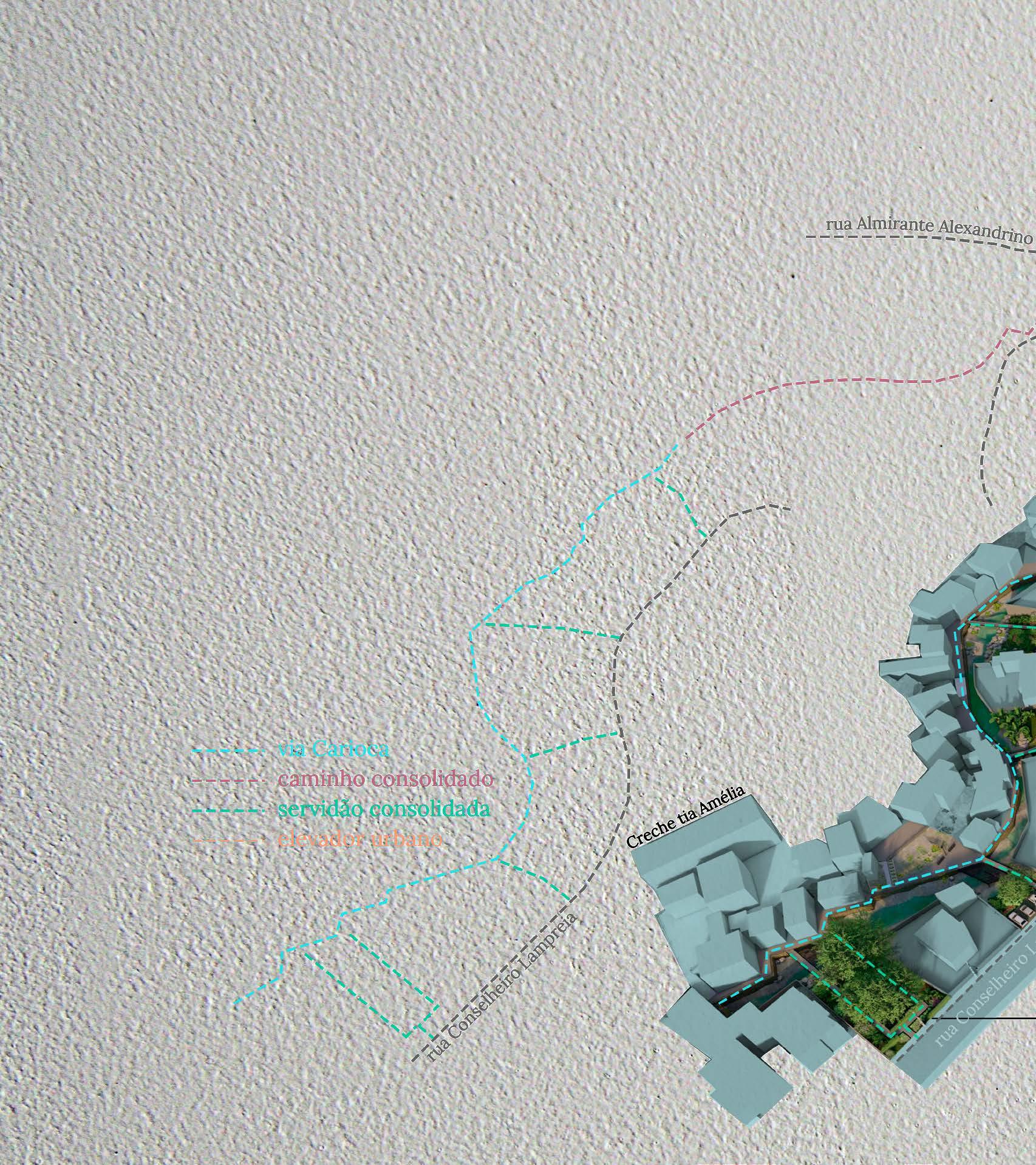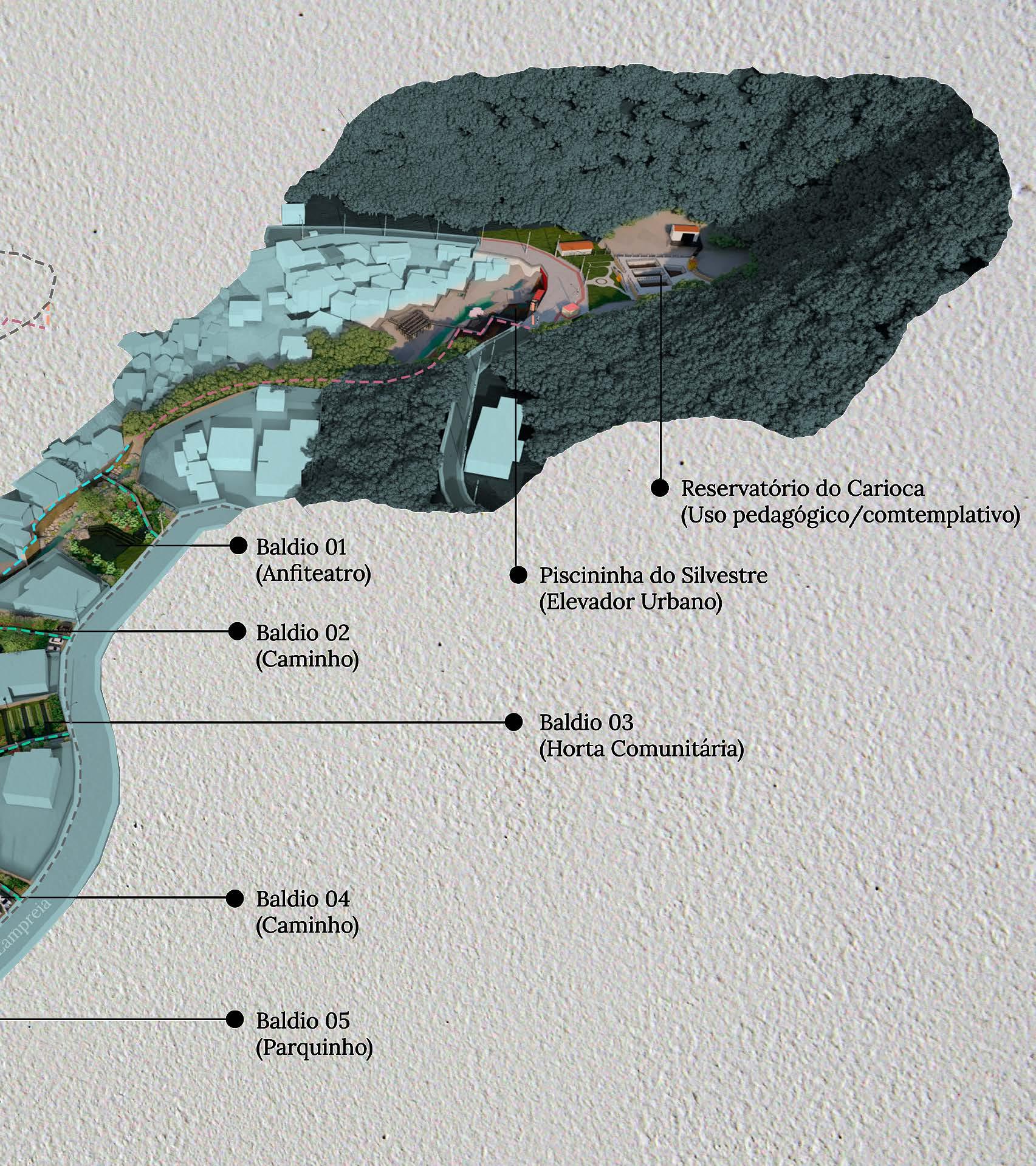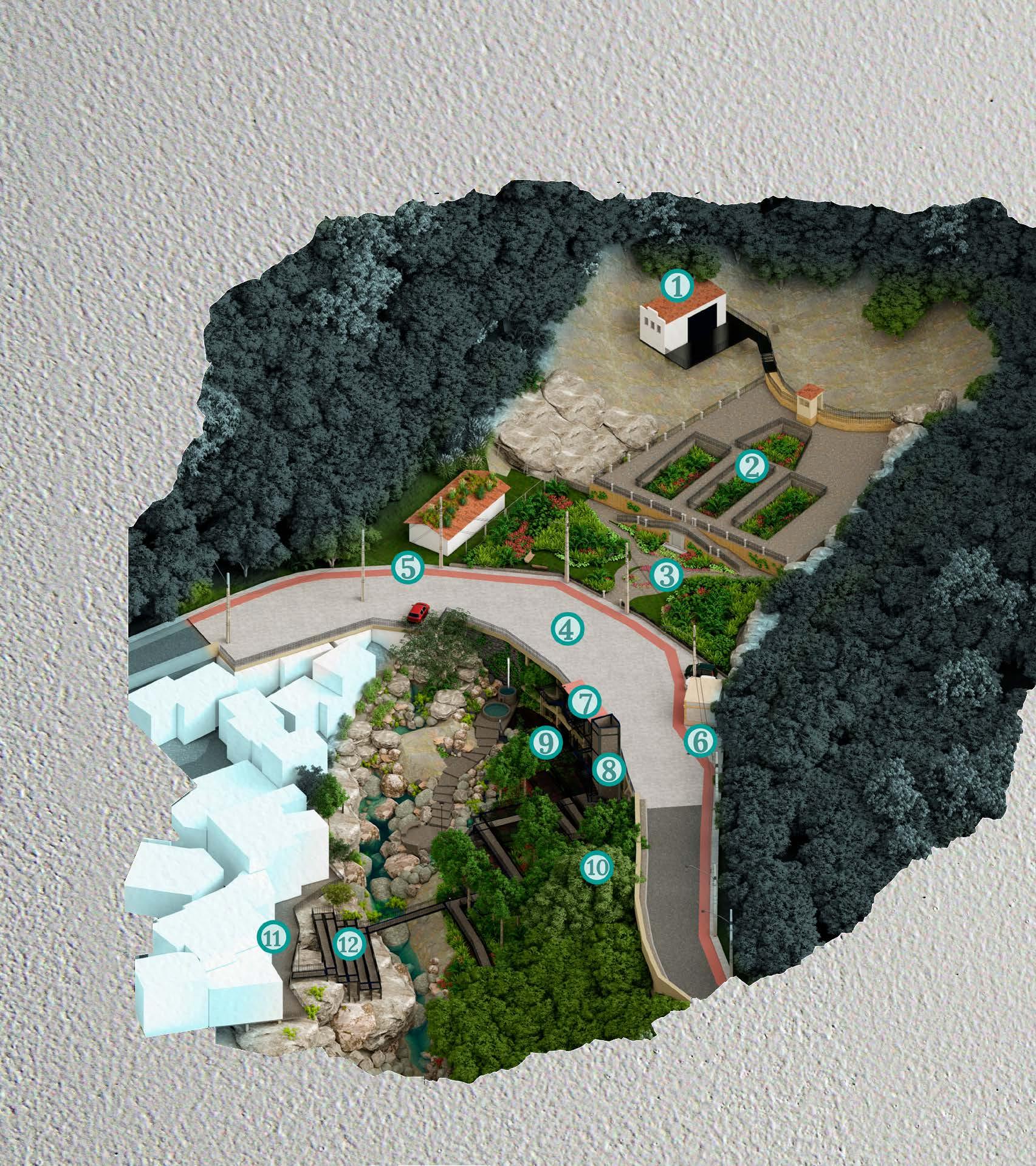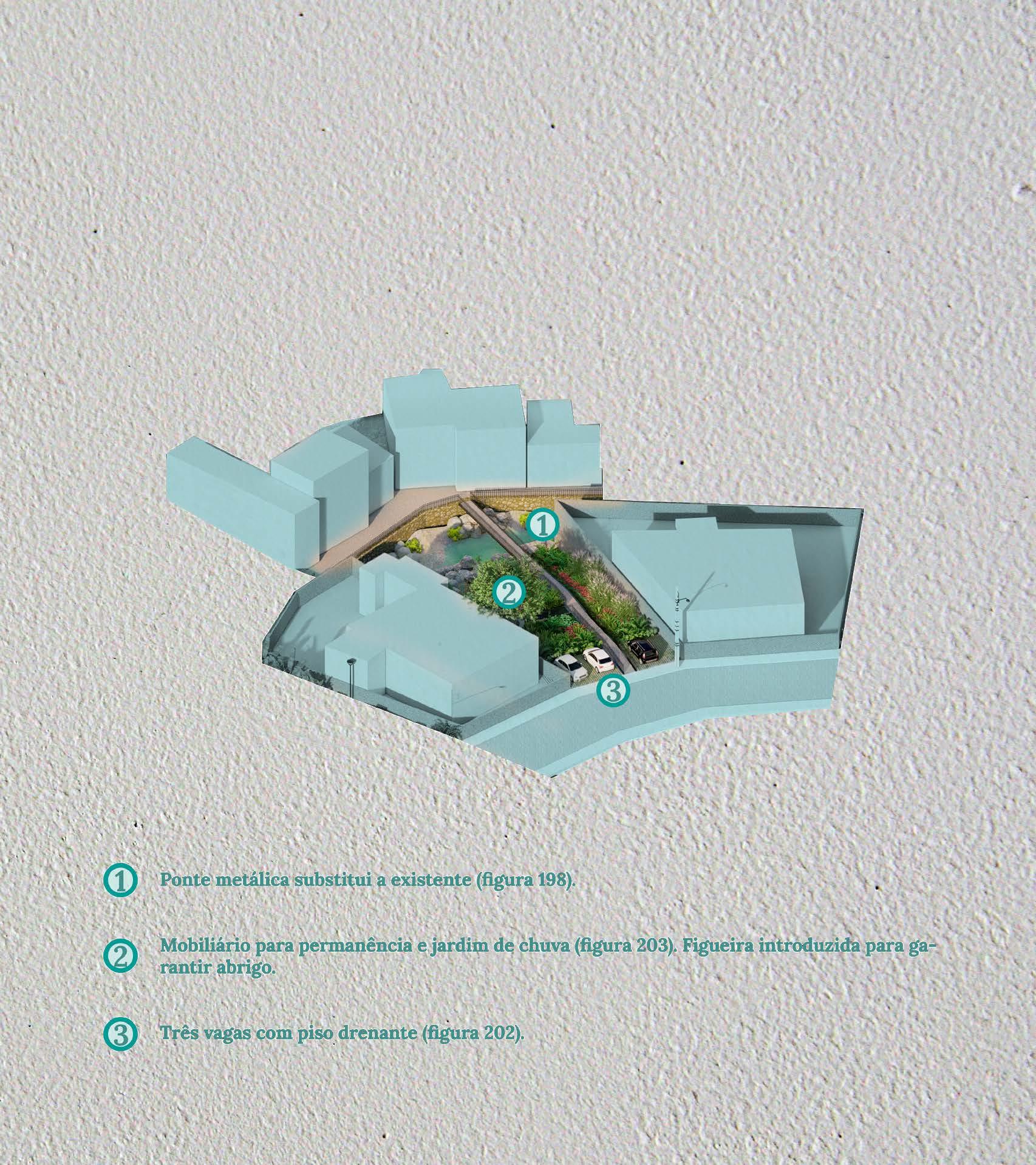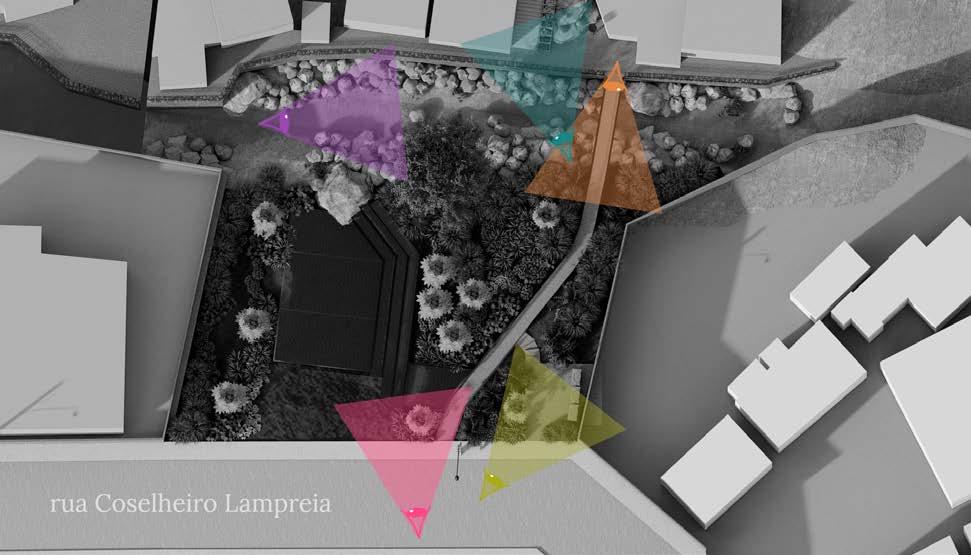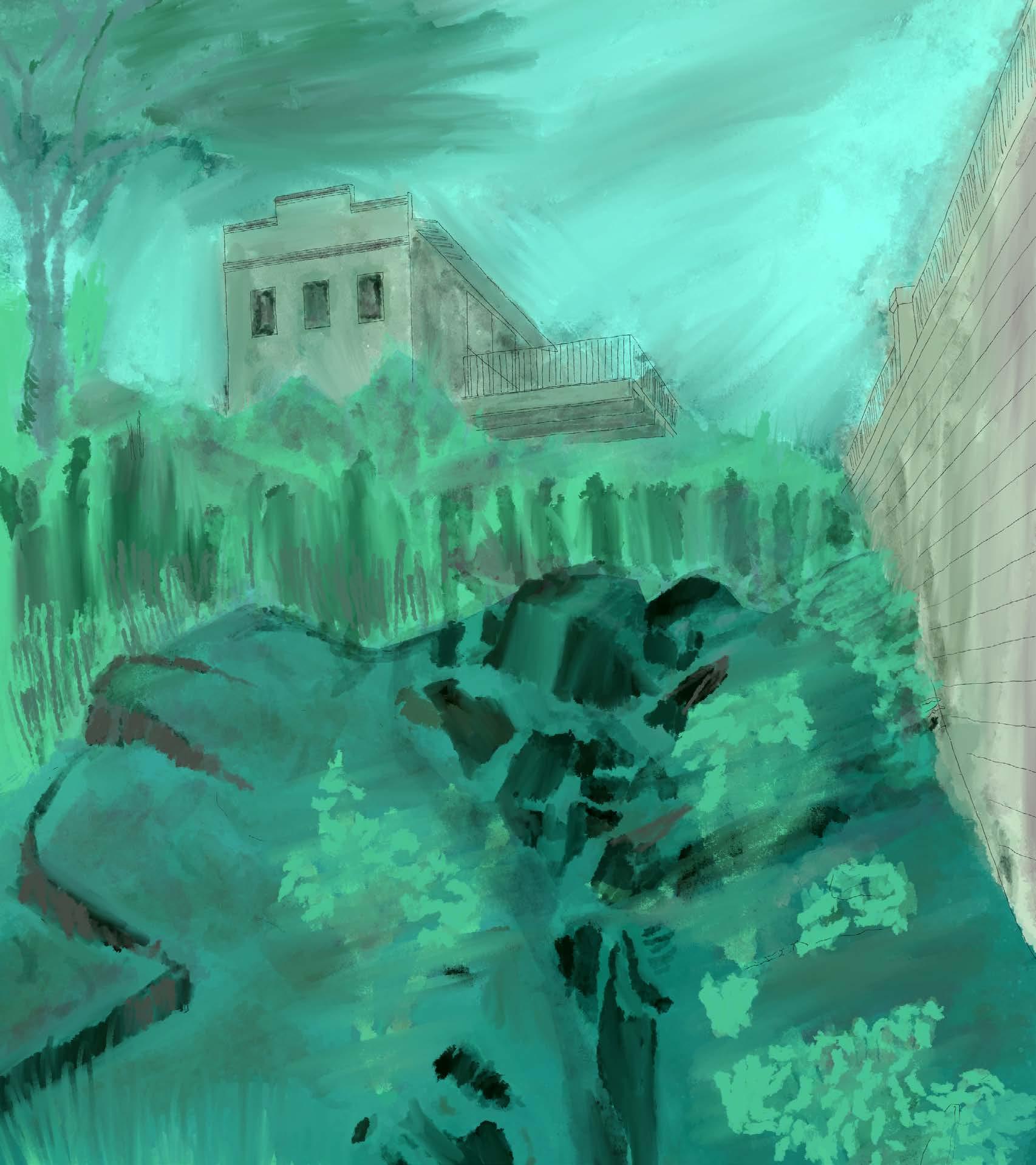
Carioca, o Rio das Memórias: Reencontro com uma Paisagem de Vestígios Victor Assi Belfort Bastos Orientadora: Profa. Ma. Karolyna Koppke Arquitetura e Urbanismo IBMEC-RJ - 2022
Victor Assi Belfort Bastos
Carioca, o Rio das Memórias: Reencontro com uma Paisagem de Vestígios
Monografia apresentada ao curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário IBMEC-RJ, como requisi to para obtenção de grau de bacharel em Arquitetura e Urbanismo.
Orientadora: Profa. Ma. Karolyna Koppke
Rio de Janeiro 2022
Victor Assi Belfort Bastos
Carioca, o Rio das Memórias: Reencontro com uma Paisagem de Vestígios
Monografia apresentada ao curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário IBMEC-RJ, como requisi to para obtenção de grau de bacharel em Arquitetura e Urbanismo.
Orientadora: Profa. Ma. Karolyna KoppkeAprovado em: ___ / ___ / ___
BANCA EXAMINADORA
Prof. Ma. Karolyna Koppke (Orientadora) Centro Universitário IBMEC-RJ
Prof. Dra. Beatriz do Nascimento Chimenti Centro Universitário IBMEC-RJ
Prof. Dra. Daniella Martins da Costa Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
_________________________________________________________________




Em memória do meu vô, Hamilton

Agradecimentos
Aos meus pais, Hector e Katia, pelo incentivo sem ressalvas.
À minha namorada, arquiteta, urbanista e conselheira em todos os temas, Fernanda.

Aos meus amigos, em especial Christian que me acompanhou rio abaixo.
Aos meus colegas da arquitetura, pois não se chega a lugar nenhum sozinho.
Ao corpo docente da IBMEC, em especial às professoras Ticianne, Themis, Priscila e Beatriz cujas conversas foram fundamentais para o bom andamento deste trabalho.
À banca examinadora pela gentileza de ceder um pouco de seu tempo.
À Profa. Karol que orientou este projeto. Sua dedicação absoluta à educação inspira.
A todos os demais que contribuíram para este projeto, em especial: Denise, Fabrica Arquitetura e os moradores do Guararapes: Nielson, Babu e Lenice.
FONTE: Realizado pelo autor

“Sonhando perto do rio, consagrei minha imaginação à água, à água verde e clara, à água que enverdece os prados. Não posso sentar perto de um riacho sem cair num devaneio profundo, sem rever a minha ventura... Não é preciso que seja o riacho da nossa casa, a água da nossa casa. A água anônima sabe todos os segredos. A mesma lembrança sai de todas as fontes.”
 Gaston
Gaston
Bachelard FONTE: Realizado pelo autor
Resumo
A interação entre a sociedade e rio Carioca na cidade do Rio de Janeiro deixou vestígios históricos na forma de reservatórios, casas de apoio, bicas, piscinas, valões e ruínas. Esses patrimônios, intimamente ligados à expansão do Rio de Janeiro entre os séculos XVII e XIX, encontram-se dispersos pelo atual bairro do Cosme Velho e totalmente desconectados do tecido urbano. Apesar disso, a população local e turistas continuam fazendo uso dessas instalações para lazer e contemplação, muitas vezes sem ter a dimensão da importância histórica do sítio que ocupam. Portanto, o que se vê é uma problemática dupla caracterizada pelo binômio esquecimento-desconexão.
Para tentar atenuar o primeiro, pensaremos como o teórico inglês John Ruskin pode nos ajudar na fundamentação teórica do valor e importância da estética da ruína presente em alguns desses vestígios. Já no segundo, veremos como o conjunto teórico do paisagista francês Gilles Clément, em especial o conceito de Terceira Paisagem, contribui para podermos desenvolver maneiras de melhorar ou criar conexões entre esses vestígios e o tecido urbano de que fazem parte.
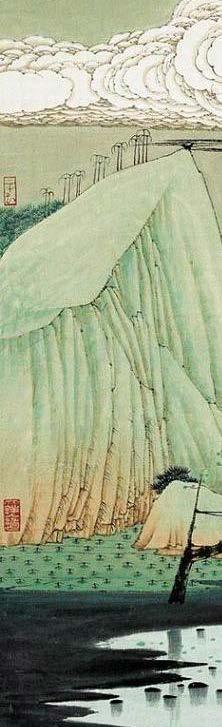
Por conseguinte, trata-se de um projeto de conclusão de curso que visa intervir nessas preexistências para gerar espaços públicos que valorizem a memória vinculada a esses vestígios da interação entre o rio e a sociedade, colocando-as em evidência no meio urbano, permitindo novas formas de trânsito por elas e desenvolvendo usos para esses espaços a partir da observação das dinâmicas que já acontecem ali.
Palavras-chave: patrimônio cultural, intervenção urbana, intervenção paisagística.

FONTE: Realizado pelo autor



Abstract
The relationship between society and the Carioca River in the city of Rio de Janeiro left behind historical vestiges in the form of reservoirs, auxiliary facilities, public faucets, pools, ditches, and ruins. These heritages, closely connected with the expansion of Rio de Janeiro between the 18th and 19th centuries, find themselves dispersed along the Cosme Velho district and totally disjointed from the urban tissue. Nevertheless, the local community and visitants continue to make use of these installations for leisure and contemplation. Therefore, what can be perceived is a two-sided problem that can be de fined by the binomial oblivion-disconnection.
To try to attenuate the first, we will consider how the English theoretician John Ruskin could help us in the theoretical elaboration of the value and importance of a ruin aesthetic that is found in some of these vestiges. In the second, we will see how the theoretical ensemble of the French landscape ar chitect Gilles Clément, in particular the concept of Third Landscape, contribute to the development of measures that could improve or create connections between these vestiges and the urban tissue that surrounds them.
Thereafter, this is an undergraduate thesis that aims to intervene in these pre-existences to produce public spaces that value the memory linked to the vestiges of the interaction between river and society, in a way that highlights these vestiges, allows new manners of transit amid them and develops uses for these spaces following the observation of the dynamics the already transpire in them.
Keywords: cultural heritage, urban intevention, landscape intervention.

FONTE: Realizado pelo autor
Lista de Figuras
FIGURA 1: Jovens brincam na Piscininha do Silvestre. 24
FIGURA 2: Reservatório do Carioca e a mata ao fundo.. 26
FIGURA 3: rio Carioca na comunidade do Guararapes. 27
FIGURA 4: Banheira do Imperador. 28
FIGURA 5: Bica da Rainha. 29
FIGURA 6: Banheira do Imperador em 1987. 32
FIGURA 7: Banheira do Imperador hoje. 32
FIGURA 8: Arco em pedra da banheira. 32
FIGURA 9: Ruína da Casa Carioca. 32
FIGURA 10: Reservatório do Carioca antes do restauro em 2006. 35
FIGURA 11: Reservatório restaurado em 2019. 35
FIGURA 12: Reservatório atualmente. 35
FIGURA 13: Casa do Cloro em 2006. 35
FIGURA 14: Casa do Cloro após o restauro. 35
FIGURA 15: A Casa do Cloro atualmente. 35
FIGURA 16: Jardim na frente do reservatório, foto atual. 36
FIGURA 17: Casa do Encarregado, foto atual. 36
FIGURA 18: Casa do Encarregado, foto atual. 36
FIGURA 19: Jardim do reservatório, 2019. 36
FIGURA 20: Jardim do reservatório, 2019. 36
FIGURA 21: Cisternas do reservatório, 2019. 36
FIGURA 22: O reservatório em 1994. 37
FIGURA 23: O reservatório retornando ao estado anterior, foto atual. 37
FIGURA 24: Rio Carioca descendo pelo leito de pedra, foto atual. 38 FIGURA 25: Rio Carioca descendo pelo leito de pedra, 2006. 38
FIGURA 26: A primeira entrada do Carioca em galeria subterrânea. 39
FIGURA 27: Arco de pedra da Piscininha. 40
FIGURA 28: Acesso à escadaria pela rua Almirante Alexandrino. 40 FIGURA 29: Piscininha do Silvestre. 41
FIGURA 30: Piscininha do Silvestre vista de cima. 42
FIGURA 31: Jovem visitante se projeta no parapeito. 42
FIGURA 32: Trabalhadores concertam o corrimão. 42
FIGURA 33: Jovem visitante se projeta no parapeito. 43
FIGURA 34: Rio Carioca continua sua descida depois de passar na Piscininha do Silvestre. 44
FIGURA 35: Descida do rio Carioca, trabalhadores removem árvores que caíram em seu curso. FONTE: acervo de Lenice Paim. 44
FIGURA 36: Descida do rio Carioca e ribanceira com as primeiras residências. 44
FIGURA 37: Rio Carioca se Aproxima do Guararapes. 44
FIGURA 38: Rio Carioca se Aproxima do Guararapes. 44
FIGURA 39: O rio se aproxima de Guararapes. 44
FIGURA 40: O rio se aproxima de Guararapes II. 45
FIGURA 41: Rio Carioca logo após ter passado pela Piscininha. 45
FIGURA 42: o rio e Guararapes. 46
FIGURA 43: o rio e Guararapes II. 46
FIGURA 44: Baldio 1. 46
FIGURA 45: Baldio 1. 46
FIGURA 46: Baldio 2. 46
FIGURA 47: Baldio 3. 46
FIGURA 48: Baldio 4. 46
FIGURA 49: Baldio 5. 46
FIGURA 50: Croqui sobre corredor ecológico de autoria de Gilles Clément. 47
FIGURA 51: A casa Geyer e seu jardim. 48
FIGURA 52: Desvio do Carioca no Instituto Casa Roberto Marinho; paisagismo do Burle Marx. 48
FIGURA 53: Desvio do Carioca no Instituto Casa Roberto Marinho; paisagismo do Burle Marx. 48
FIGURA 54: Instituto Casa Roberto Marinho. 49
FIGURA 55: Instituto Casa Roberto Marinho. 49
FIGURA 56: O rio Carioca canalizado. 49
FIGURA 57: O rio Carioca canalizado. 49
FIGURA 58: O rio Carioca canalizado II. 49
FIGURA 59: Anfitriões do Cosme Velho. 50
FIGURA 60: Praça com guarda-corpo de pedra. 50
FIGURA 61: Largo do Boticário. 51
FIGURA 62: Canal no Largo do Boticário. 51
FIGURA 63: Árvore se agarra na lateral do canal. 51
FIGURA 64: Os dois canais, o ponto final ao fundo e a rua Cosme Velho. 52
FIGURA 65: O canal visto de perto. 52
FIGURA 66: A ladeira do Cerro Corá. 52
FIGURA 67: O Reservatório do Morro do Inglês e ladeira do Ascurra. 52
FIGURA 68: Bica da Rainha atrás de grade cerrada com cadeado. 53 FIGURA 69: Bica da Rainha e sua relação com a rua Cosme Velho. 54
FIGURA 70: O Centro de Tratamento (CTR) do Flamengo. 55
FIGURA 71: O canal após ter passado pelo CTR. 55
FIGURA 72: Deck de madeira que esconde o rio Carioca. 55
FIGURA 73: Deck de madeira com a foz do rio ao fundo. 55
FIGURA 74: Croqui de autoria do Clément, tecido urbano x espaços não habitados.. 59
FIGURA 75: Croqui da evolução no tempo de um delaissés. 59
FIGURA 76: Red House de William Morris. 60
FIGURA 77: Jardim “La Vallée” de Gilles Clément. 61 FIGURA 78: Caixa Mãe d’Água. 66
FIGURA 79: Les Blanchisseuses à la Rivière de Jean-Baptiste Debret; rio Carioca. 67
FIGURA 80: Laranjeiros de Maria Graham (1821 - 1823). 68
FIGURA 81: Bica da Rainha de Pieter Bertichen (1837 - 1856). 68
FIGURA 82: Bica da Rainha atualmente. 68
FIGURA 83: Foto da rua Conde de Baependi sem data de Augusto Malta. 69
FIGURA 84: A Carioca de Pedro Américo. 69
FIGURA 85: rua Conde de Baependi sendo canalizada, foto de 04/09/1905, Augusto Malta. 71
FIGURA 86: rua Conde de Baependi, foto de 25/07/1906, Augusto Malta. 71
FIGURA 87: rua Conde de Baependi, mesmo ângulo da anterior. 71
FIGURA 88: rua Conselheiro Lampreia. 72
FIGURA 89: Mapa de localização do projeto. 73
FIGURA 90: Mapa dos bairros, rio Carioca e seus afluentes. 74
FIGURA 91: Mapa de hidrografia e relevo. 76
FIGURA 92: Mapa de tipo de cobertura no tecido urbano. 78 FIGURA 93: Corte esquemático com rio Carioca. 80
FIGURA 94: Mapa de mobilidade em torno do rio Carioca. 82
FIGURA 95: Mapa de relevo e drenagem do Cosme Velho. 84
FIGURA 96: Gráfico demográfico. 86
FIGURA 97: Gráfico demográfico percentual. 86
FIGURA 98: Gráfico de pirâmide etária.. 87
FIGURA 99: Gráfico demográfico de cor ou raça. 87
FIGURA 100: Gráfico da situação dos domicílios. 87
FIGURA 101: Mapa de renda no Cosme Velho. 88
FIGURA 102: Mapa de gabaritos no Cosme Velho. 90
FIGURA 103: Mapa de hierarquia viária no Cosme Velho. 92
FIGURA 104: Diagrama de sistema viário. 92
FIGURA 105: Mapa de mobilidade no Cosme Velho. 94
FIGURA 106: Mapa de zoneamento no Cosme Velho. 96
FIGURA 107: Levantamento de Guararapes feito por alunos da UFRJ em 1978. 98
FIGURA 108: Seleção da tipologia de acordo com os espaços livres disponíveis. 99
FIGURA 109: PAL 11.382 de Guararapes, Vila Cândido e Cerro Corá. 100
FIGURA 110: Trecho do PAL 11.382 focando no Guararapes. 100
FIGURA 111: Trecho do PAL 11.382 focando no planejamento da praça Conselheiro Lampreia. 101
FIGURA 112: Mapa de estruturas de proteção patrimonial. 102
FIGURA 113: Mapa de equipamentos públicos. 104
FIGURA 114: Mapa de subáreas de atuação projetual. 106
FIGURA 115: Mapa do perímetro da intervenção na subárea 02. 108 FIGURA 116 Mapa de Figura e Fundo da área 02. 110 FIGURA 117: Mapa de gabaritos da área 02. 112 FIGURA 118: Mapa de usos da área 02. 114
FIGURA 119a: Mapa de Caminhos da área 02. 116 FIGURA 119b: Diagrama do Reservatório e da Piscininha. 118 FIGURA 120: Espécies vegetais encontradas. 120
FIGURA 121: Diagrama do Baldio 1 ou pç. Conselheiro Lampreia. 122 FIGURA 122: Diagrama do Baldio 2. 123 FIGURA 123: Diagrama do Baldio 3. 124 FIGURA 124: Diagrama do Baldio 4 e 5. 125 FIGURA 125: Diagrama de Síntese do Diagnóstico. 126
FIGURA 126: Casa de campo do Clément cercada pelo jardim La Vallé em momentos distintos. 130
FIGURA 127: O jardim La Vallé. 131
FIGURA 128: Les Champs, expansão do jardim La Vallée. 131 FIGURA 129: Parc André Citroën. 132 FIGURA 130: Mapa do Parque, grifo meu. 133
FIGURA 131: Jardim prateado (esquerda) e jardim laranja (direita), dois dos jardins seriados. 134
FIGURA 132: Jardim em Movimento do Parc André Citroen. 135 FIGURA 133: Jovens se reúnem em banco no jardim em movimento. 135 FIGURA 134: A Base de Submarinos de Saint-Nazaire. 136
FIGURA 135: Bosque dos choupos, terraço (esquerda) e sala de explosão de bombas (direita). 137
FIGURA 136: Jardim das Gramíneas. 137 FIGURA 137: Jardim das Gramíneas. 137 FIGURA 138: O jardim das etiquetas. 138 FIGURA 139: Crianças da escola local visitam horta na margem do rio Carioca. 139 FIGURA 140: Vale dos Contos, Ouro Preto, Minas Gerais. 140
FIGURA 141: Trecho do Mapa do Vale dos Contos. 140
FIGURA 142: Vale dos Contos, quadra (esquerda), córrego (centro) e caminho (direita). 141
FIGURA 143: Caminho do parque e córrego sob a Ponte dos Contos. 141
FIGURA 144: Vista aérea do Parque das Águas de Niterói. 142
FIGURA 145: Reservatório da Correção, frente (esquerda), fundos (direita). 142
FIGURA 146: Interior do reservatório. 142
FIGURA 147: Elevador público do Parque das Águas de Niterói. 143
FIGURA 148: Auditório do parque. 143
FIGURA 149: Caminho no Parque das Águas de Niterói. 143
FIGURA 150: Recuperação do Bairro do Chiado. 144
FIGURA 151: Escadaria no Bairro do Chiado. 144
FIGURA 152: Maquete da Amnésia Topográfica II. 144
FIGURA 153: Amnésia Topográfica II. 144
FIGURA 154: Amnésia Topográfica II. 144
FIGURA 155: More Balls for Kapler Plaza. 145
FIGURA 156: Interior do Museu Kolumba. 145
FIGURA 157: Museu do Pampa. 145
FIGURA 158: Render do Museu do Pampa. 145
FIGURA 159: Masterplan da interbenção 148
FIGURA 160: Croqui da Intervenção na Banheira do Imperador. 150
FIGURA 161: Croqui da Intervenção nas cisternas do Reservatório do Carioca. 151
FIGURA 162: Croqui da Intervenção no jardim do Reservatório do Carioca. 153
FIGURA 163: Croqui da Intervenção na Piscininha do Silvestre. 154
FIGURA 164: Croqui da intervenção na fachada do Reservatório do Morro do Inglês. 156
FIGURA 165: Croqui da intervenção no canal ao lado do Largo do Boticárrio. 157
FIGURA 166: Croqui da intervenção na Bica da Rainha. 158
FIGURA 167: Croqui da intervenção na foz do rio Carioca. 159
FIGURA 168: Desenho esquemático da moldura de vigas metálicas sustentando placa de gradil vazado. 160 FIGURA 169: Desenho esquemático da moldura de vigas metálicas sustentando placas de concreto e cantaria. 160 FIGURA 170: Guarda-corpo metálico com hastes verticais. 161 FIGURA 171: Desenho esquemático mostrando a relação entre vigas principais e vigas secundárias. 161
FIGURA 172: Corte esquemático da laje com gradil. 161
FIGURA 173: Elemento para composição do jardim Vertical. 161 FIGURA 174: Corte esquemático da laje com cantaria. 161
FIGURA 175: Desenho esquemático da fundação. 161
FIGURA 176: Esquema geral da intervenção na subárea 2.. 163 FIGURA 177: Reservatório do Carioca e Piscinha do Silvestre. 164
FIGURA 178: Vista aérea da intervenção no Reservatório.. 166
FIGURA 179: Jardim em movimento no Reservatório do Carioca. 166
FIGURA 180: Jardim em movimento no Reservatório do Carioca. 166
FIGURA 181: Intervenção na rua Almirante Alexandrino.. 166
FIGURA 182: Intervenção na rua Almirante Alexandrino.. 167
FIGURA 183: Intervenção na rua Almirante Alexandrino.. 167
FIGURA 184: Elevador urbano na Piscininha do Silvestre. 168
FIGURA 185: Nova sacada e rampa de acesso à Piscininha. 168
FIGURA 186: Chuveiros e bancos dão assistência às piscinas. 168
FIGURA 187: Vista aérea da intervenção na Piscininha do Silvestre. 169
FIGURA 188: Escadaria entre pilares existentes. 169
FIGURA 189: Mobiliário para repouso. 169
FIGURA 190: Baldio 01 - Anfiteatro. 170
FIGURA 191: Baldio 02 - Caminho. 171
FIGURA 192: Vista aérea da intervenção no baldio 01. 172
FIGURA 193: Ponte sobre o rio Carioca no baldio 01. 172
FIGURA 194: Escadaria jardim. 172
FIGURA 195: Intervenção no Baldio 01. 173
FIGURA 196: Simulação do baldio 01 com nível do rio Carioca elevado. 172
FIGURA 197: Espaço para os contêineres de lixo. 173
FIGURA 198: Intervenção no baldio 02. 174
FIGURA 199: Vista da via Carioca em direção ao baldio 02. 174
FIGURA 200: Vista do mobiliário. 174
FIGURA 201: Vista aérea do baldio 02. 175
FIGURA 202: Vagas com piso drenante. 175
FIGURA 203: Mobiliário do baldio 02. 175
FIGURA 204: Baldio 03 - Horta Comunitária. 176
FIGURA 205: Baldio 05 - Parquinho e baldio 04 - Caminho. 177
FIGURA 206: Vista aérea do baldio 03. 178
FIGURA 207: Horta comunitária. 178
FIGURA 208: Vista do acesso à horta. 178
FIGURA 209: Vista do baldio 03 da rua Conselheiro Lampreia. 178
FIGURA 210: Intervenção no baldio 03. 179
FIGURA 211: Plaraforma para permanência sobre o rio Carioca. 179
FIGURA 212: Intervenção no baldio 04. 180
FIGURA 213: Vagas com piso drenante. 180
FIGURA 214: O rio Carioca da plataforma. 180
FIGURA 215: Vista aéra do baldio 05. 181
FIGURA 216: Jardim de chuva. 181
FIGURA 217: Platagorma elevada do baldio 04. 181
FIGURA 218: Vista aérea do baldio 5. 182
FIGURA 219: Parquinho no baldio 5. 182
FIGURA 220: Vista da casa na árvore. 182
FIGURA 221: Muro verde que protege o parquinho. 182
FIGURA 222: intervenção no baldio 5. 183
FIGURA 223: Jardim vertical na entrada do rio Carioca em galeria. 183
Lista de Abreviaturas
AMOG - Associação de Moradores do Guararapes
APP - Área de Proteção Permanente
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
FMP - Faixa Marginal de Proteção
INEPAC - Instituto Estadual do Patrimônio Cultural
IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
PAL - Projeto Aprovado de Loteamento
UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro
UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
ZE-1 - Zona Especial 1
01 Do primeiro olhar à teoria



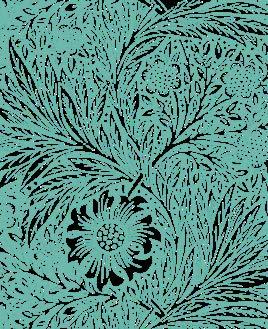
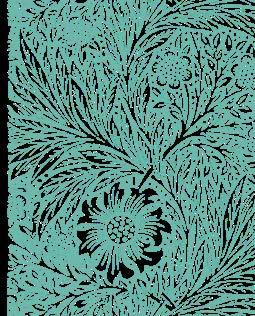
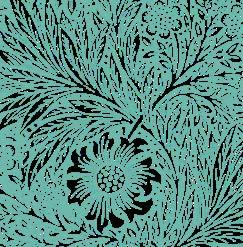
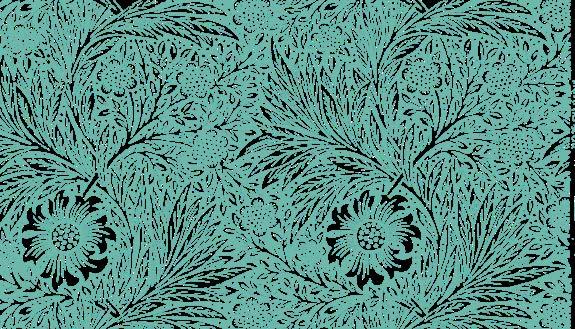

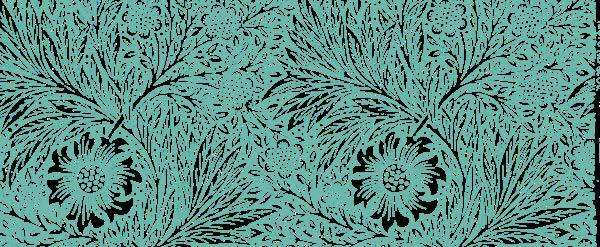
Descendo o rio Estética da ruína e John Ruskin Terceira paisagem, jardim e movimento e Gilles Clément Entre Ruskin e Clément
02 Os vestígios investigados
a história dos vestígios e das suas paisagens cartogradando em três escalas
00 Introdução O problema Objeto Justificativa Objetivos Metologia 24 24 25 27 28 23
32 56 58 59 30
66 73 62
Outras paisagens
Clément: conceitos a partir de três jardins Parque Vale dos Contos:
trajetos Parque das Águas de Niterói
parasitário


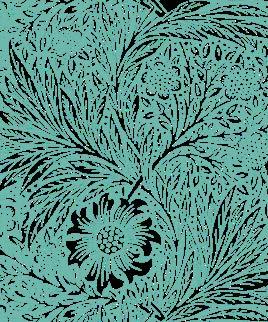
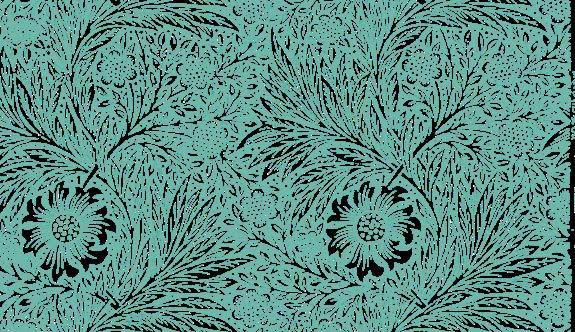
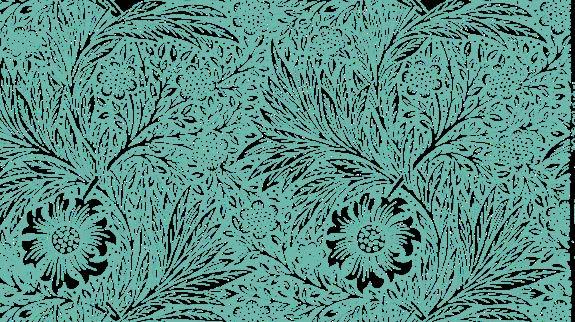
Os vestígios investigados
Materplan da intervenção
e técnicas
rio das memórias
Finais

Bibliográficas
- Caderno Técnico
03
Gilles
consolidando
Sublime
130 140 142 144 128 04
Croquis Materiais
Carioca,
Considerações
Referências
Apêndice I
148 150 160 162 184 186 191 146


Introdução


FONTE: Realizado pelo autor
O PROBLEMA
A partir da segunda metade do século XVIII, a necessidade de criar um sistema de abastecimento de água para a cidade do Rio de Janeiro obrigou o poder público a criar uma série de equipamentos de infraestrutura urbana para que essa demanda fosse atendida. O rio Carioca, pela sua proximidade ao Centro da cidade, foi o primeiro a passar por essa interferência (DE ALMEIDA, 2013).
Hoje, vestígios dessa relação entre sociedade e rio se concentram no bairro do Cosme Velho. Eles existem na forma de piscinas naturais, reservatórios, canais, valões, casas de apoio do antigo sistema de abastecimento, bicas e fontes. Em alguns casos, o abandono dessas edificações fez com que atingissem o estado de ruína.
Muitas pessoas ainda são atraídas para esses espaços para lazer e contemplação, geralmente moradores da favela dos Guararapes ou turistas. São atraídos pela possibilidade de tomar banho nas piscinas naturais, pelo contato com a natureza do Parque Nacional da Tijuca ou pela admiração à estética pitoresca das ruínas. Todavia, a importância histórica desses vestígios não é conhecida pela maior parte dos seus visitantes.

Além disso, as conexões existentes com o espaço que os cerca não se dá de forma apropriada. Alguns encontram-se atrás de grades fechadas a cadeado, outros no meio de vias expressas com calçadas estreitas ou que só podem ser acessados através de longas escadarias. Pode-se dizer que estão alienados do tecido urbano que os circunda.
Portanto, temos uma problemática que pode ser caracterizada pelo binômio esquecimento -desconexão.
OBJETO



Os vestígios da relação entre a sociedade do Rio de Janeiro e o rio Carioca no bairro do Cosme Velho: os reservatórios, as casas de apoio a esse antigo sistema de fornecimento de água e as torneiras que distribuíam esse recurso.
O primeiro desses reservatórios foi a Caixa Mãe d’Água, construída em 1774, na rua Almirante Alexandrino. Esse compo-
FIGURA 1: Jovens brincam na Piscininha do Silvestre. FONTE: site do Globo (< https://oglobo.globo.com/rio/carioca-sera-primeiro-rio-ser-tombado-do-estado-22286503> 24
nente vai ser expandido em 1865 com a introdução do Reservatório do Carioca (figura 2). Trata-se de um conjunto de quatro cisternas e jardim servido por duas edificações de apoio: a casa do encarregado e a casa do cloro. Nesse mesmo local, ao se descer uma escadaria, tem-se acesso a um conjunto de pequenas barragens conhecida hoje como Piscininha do Silvestre (figura 1).
Outro reservatório importante, situado na ladeira do Ascurra, é o Reservatório do Mor-
ro do Inglês. Sua função princi pal era reservar as águas do rio do Silvestre, todavia, tubulações o conectavam ao Reservatório do Carioca de maneira que as águas do último poderiam ir para o primeiro caso a vazão do rio aumen tasse em função das chuvas.

A população carioca acessava essa água a partir de torneiras e chafarizes situados por toda cidade. No caso do Carioca, destaca-se a Bica da Rainha que se encontra na rua Cosme Velho.
Finalmente, na trilha do Carioca, dentro do Parque Nacional da Tijuca, encontra-se a Banheira do Imperador, uma cisterna que acumulava água para manter as antigas fazendas que uma vez ocuparam aquela locali dade.
elementos que, por natureza, des conectam.

Hoje, por diversas razões; sejam elas culturais, econômicas, memoriais ou políticas; ambiciona-se a recuperação desses componentes para a paisagem e memória urbana. Pode-se dizer que o campo da intervenção em infraestruturas obsoletas com valor de memória está inserido do debate contemporâneo em torno da requalificação urbana e, desse modo, é um assunto corrente no âmbito da Arquitetura e Urbanismo.
JUSTIFICATIVA
Componentes obsoletos de infraestrutura urbana se tornaram desafios para o funcionamento das cidades. Em muitos casos, na medida em que houve a expansão do tecido urbano, esses componentes foram cercados ao mesmo tempo que a relação das pessoas com eles atrofiou. Portanto, restaram a esses componentes os muros, as grades e as cercas;
Quando se leva em conta uma perspectiva mais específica, percebe-se que o rio Carioca é objeto de diversos estudos1 e trabalhos de conclusão de curso premiados2. Como assunto, está inserido no debate maior sobre o desafio de se lidar com rios que se encontram inseridos no meio urbano.

Ademais, não é só no meio acadêmico que esse corpo d´água e os vestígios históricos da sua relação com a sociedade carioca têm despertado interesse. Recente matéria jornalística realizada
1 A professora e pesquisadora Lucia Maria Sá Antunes organiza junto ao Núcleo Interdisci plinar de Pesquisa em Paisagismo da PROURB FAU/UFRJ ampla pesquisa sobre rios urbanos incluindo o Carioca.
2 O TCC Rio Carioca de Tamires Baraúna recebeu em 2017 o prêmio Ópera Prima.
https://oglobo.globo.com/rio/carioca-sera-primeiro-rio-ser-tombado-do-estado-22286503> Acessado em: 25/06/2022).
25
pelo RJTV1 visitou a fonte do rio e alguns dos antigos equipamentos de infraestrutura de fornecimento de água, conferindo especial atenção à necessidade de resgatar
1 Conheça a nascente do Rio Carioca, que começa cristalino e limpo e chega com lixo e esgoto à Baía, matéria jornalística veiculada no RJTV em 2022 (<https://g1.globo.com/rj/rio-de -janeiro/noticia/2022/05/06/conheca-a-nascen te-do-rio-carioca-que-comeca-cristalino-e-lim po-e-chega-com-lixo-e-esgoto-a-baia.ghtml> Acessada em: 07/06/2022).
a memória desses edifícios. Já no campo das artes, podemos citar o documentário Carioca era um Rio (2012) de Simplício Neto e a intervenção artística Transposição do rio Carioca (2008) do fotógrafo Felipe Varandas como exercícios na di reção de tentar realizar esse resgate.
Já em uma perspectiva mais concreta, deve-se citar tan-
to o restauro realizado na Bica da Rainha em 2014 como o restauro do Reservatório do Carioca em 2019 como formas de se preservar a integridade física desse patrimônio. Infelizmente, em ambos os casos apenas o restauro não foi suficiente para reintegrar esses espaços com o tecido urbano.
Quando se leva em conta a relação dos moradores com esses vestígios, constata-se uma ressignificação já em curso. É o caso da Piscininha do Silvestre, antigo reservatório hoje utilizado como piscina natural para a comunidade do Guararapes (figura 3) e visitantes. Deve-se ressaltar também a participação dessa comunidade nos cuidados conferi dos ao rio Carioca através da participação em organizações não governamentais2 e programas de conservação do Poder Público3.

Tudo isso, fundamenta a importância de se pensar em projetos que proponham interven ções em infraestruturas urbanas obsoletas com valor de memória que tenham como intuito estrei tar a relação dos moradores com esses equipamentos. Já no aspecto específico o interesse público em torno do objeto desse trabalho
2 ONGs como a Anfitriões do Cosme Ve lho.
3 Programa Conservando Rios da Prefeitu ra do Rio de Janeiro, infelizmente descontinuado em 2022.

FIGURA 2: Reservatório do Carioca e a mata ao fundo.. FONTE: Acervo Pessoal (jun/2022). 26
pode ser encontrado em diversas frentes. Percebe-se a existência de interesse acadêmico, jornalístico, artístico, governamental e comunitário no rio Carioca e nas construções a ele associadas, portanto, exis te margem para que projetos possam ser pensados para tentar trazer melhoramentos na dinâmica de funcionamento desse objeto.


ruína, defendida por John Ruskin (1819 – 1900) e dos conceitos de Terceira Paisagem e Jardim em Movimento do paisagista Gilles Clément.
Objetivos Específicos
- Colocar esse patrimônio em maior evidência no tecido urbano.

- Repensar as conexões entre o tecido urbano e os vestígios da interação entre rio Carioca e a sociedade.
OBJETIVOS
Objetivo Geral

Enfrentar o binômio esquecimento-desconexão que caracteriza os vestígios da interação entre o rio Carioca e a sociedade a partir da recuperação da sua memória, da valorização da estética da
- Intervir nos espaços livres que encerram esse patrimônio, valorizando as atividades que neles já se desenvolvem.
- Valorizar, em especial, a relação entre esses vestígios e a via Carioca na favela do Guararapes.
FIGURA 3: rio Carioca na comunidade do Guararapes. FONTE: O Globo (< https://oglobo.globo.com/rio/carioca-sera-primeiro-rio-ser-tombado-do-estado-22286503> Acessado em: 25/06/2022). 27
METODOLOGIA

De maneira geral, esse trabalho de conclusão e curso visa lançar mão de conceitos teóricos de John Ruskin (valorização da estética da ruína) e Gilles Clément (Terceira Paisagem e Jardim em Movimento) com o intuito de criar a partir deles um conjunto de diretrizes projetuais que norteiem uma intervenção nos vestígios da interação entre a sociedade e o rio Carioca.

Para isso, no primeiro capítulo, realizarei uma aproximação pessoal do rio Carioca e desses equipamentos de infraestrutura associados a ele desde sua nascente até a sua foz. A partir disso, será evocado como os conceitos dos autores já citados podem fundamentar teoricamente essa interpretação pessoal sobre o espaço visitado. Esses autores, então, serão contextualizados e os pontos em que suas visões sejam harmônicas serão ressaltados de maneira que seja realizada uma espécie de “costura” teórica entre eles.
Já no segundo capítulo, o foco estará em tentar compreender a complexa paisagem estabelecida pelo objeto do trabalho e seu entorno. Para tal finalidade, essa paisagem será decomposta
em suas características mais básicas usando como referência para isso a teoria das portas da paisagem de Jean-Marc Besse (1956) e o Manual de Elaboração de Projetos de Pre-

servação do Patrimônio Cultural do Programa Monumenta/IPHAN. Esse documento ajuda a organi-
FIGURA 4: Banheira do Imperador. FONTE: acervo pessoal (jun/2022).
28
FIGURA 5: Bica da Rainha. FONTE: acervo pessoal (mar/2022).
zar um diagnóstico da região que abranja os aspectos históricos e simbólicos do local, suas características físicas, urbanísticas e ambientais e os elementos sociais através de conversas com moradores.

Em seguida, no capítulo terceiro, será levantado um conjunto de referenciais projetuais capazes de consubstanciar eventuais escolhas de projeto. De início, será contemplado o trabalho paisagístico do próprio Gilles Clément com foco na investigação de como ele aplicou os próprios conceitos para a concepção de parques e jardins. Também será estudado o Parque do Horto Botânico e do Vale dos Contos em Ouro Preto. Desse projeto, constituído pelo Programa Monumenta, especial interesse será direcionado a como ele foi capaz de valorizar trajetos informais estabelecidos pela própria população e criar um con-
junto de mobiliários urbanos que trouxeram novos usos para aquele espaço. Finalmente, como referência programática, será analisado brevemente o Parque das Águas de Niterói. Neste projeto um equipamento obsoleto de infraestrutura de fornecimento de água foram requalificados.
Enfim, no capítulo quarto, será apresentado o projeto a partir de um masterplan das intervenções a serem realizadas no Cosme Velho e na foz do rio Carioca. Além disso, será realizado aprofundamento da proposta de intervenção em uma das regiões analisadas.

29

01.


Do primeiro olhar à teoria
FONTE: Realizado pelo autor
1.1 DESCENDO O RIO

As nascentes do rio Carioca se encontram espalhadas pelo Parque Nacional da Tijuca. Suas águas, ainda no parque, se juntam formando um riacho que desce a serra do Corcovado pelo talvegue natural estabelecido pelo relevo. O primeiro fragmento da interferência antrópica no seu curso é o local que ficou conhecido como Banheira do Imperador (figura 6 e 7).


A banheira é na verdawde um antigo reservatório construído em 1851 que tinha como objetivo abastecer de água as fazendas cafeeiras que ali se estabeleceram ao longo do século XIX (FIUZA, 2019). Já o arco de pedra (figura 8), era a ponte de uma estrada que em algum momento passou por ali. Se continuarmos a descer nessa trilha, encontraremos a ruína da Casa Carioca (figura 9), provavelmente, ela correspondia a uma das edificações pertencentes às fazendas já citadas.


FIGURA 9: Ruína da Casa Carioca. FONTE: acervo pessoal (jun/2022).
Esses fragmentos encontrados ao longo do rio Carioca passam a sensação de elementos que estão presos em um lento processo de digestão executado pela natureza abundante que os circunda. O teórico da restauração do século XIX, crítico, artista e escritor John Ruskin vai argumentar que as mar-



FIGURA 6: Banheira do Imperador em 1987. FONTE:
FIGURA 7: Banheira do Imperador hoje. FONTE: acervo pessoal (jun/2022).
FIGURA 8: Arco em pedra da banheira. FONTE: acervo pessoal (jun/2022).
32
cas do tempo de um edifício guardam a memória daqueles que o construíram ou se relacionaram com ele de alguma forma. Em suas palavras:
Pois, certamente, a maior glória de um edifício não está em suas pedras, ou em seu ouro. Sua glória está na sua Idade, e no seu profundo senso de expressividade de uma severa vigília, de misteriosa simpatia e até um senso de aprovação ou condenação que nós sentimos nas paredes que foram há muito lavadas pelas ondas de humanidade que ali passa ram. É no seu duradouro testemunho dos homens, no seu silencioso contraste com a natureza transitória de todas as coisas, na força com que, através da passagem de estações e eras, e o declínio e nascimento de dinastias, e a mudança da própria terra, e dos limites dos mares, mantém sua forma esculpida por um tempo insuperável, conecta eras esquecidas e porvir, constituindo parte da identidade de nações enquanto concentra sua simpatia, é nessa pátina dourada do tempo que nós procuramos a luz real, e cor, e preciosidade da arquitetura; e não é até que o edifício tenha assumido essa característica, até a ele ser conferida fama e seja consagrado pela ação dos homens, até suas paredes terem testemunhado sofrimento, e seus pilares se levantarem da sombra da morte que sua existência, mais duradoura que aquela dos objetos naturais do seu entorno, pode ser presenteada com linguagem e vida. (RUSKIN , 2014, p. 2364)1
1 Traduzido livremente pelo autor. Original: “For, indeed, the greatest glory of a building is not in its stones, or in its gold. Its glory is in its Age, and in that deep sense of voicefulness, of stern watching, of mysterious sympathy, nay, even of approval or condemnation, which we feel in walls that have long been washed by the passing waves of humanity. It is in their lasting witness against men, in their quiet contrast with the transitional character of all things, in the strength which, through the lapse of seasons and times, and the decline and birth of dynasties, and the changing of the face of the earth, and of the limits of the sea, maintains its sculptured sha peliness for a time insuperable, connects forgotten and following ages with each other, and half constitutes the identity, as it concentrates the sympa thy, of nations; it is in that golden stain of time, that we are to look for the real light, and color, and preciousness of architecture; and it is not until a building has assumed this character, till it has been entrusted with the fame, and hallowed by the deeds of men, till its walls have been witnesses of suffering, and its pillars rise out of the shadows of death, that its existen
Portanto, Ruskin aqui está propondo que esses edifícios têm algo a nos dizer. Uma “expressividade”, uma “severa vigília” que pode nos aprovar ou nos condenar e que têm até mesmo uma linguagem. Qual é, então, a história que esses fragmentos nos contam? Talvez seja a de uma sociedade que cresceu de forma descontrolado no século XIX e passou a ocupar a margem do rio que a abastecia (DE ALMEIDA, 2013). A distribuição de água se tornou falha e intermitente o que despertou a ira dos moradores da cidade e, por sua vez, obrigou a Coroa a desapropriar aquelas fazendas e iniciar um grande processo de reflorestamento. Inicialmente esse projeto ficou a cargo de um fazendeiro, Manuel Gomes Archer e “seis escravos de propriedade governamental: Eleu tério, Constantino, Manuel, Mateus, Leopoldo e Maria” (DRUMMOND, 1988, p.288).
Isso mostra como o Parque Nacional da Tijuca não pode ser visto como um resquício da mata virgem que uma vez existiu no Rio de Janeiro e sim uma combinação entre essa mata original e sua interação com a sociedade. Essa relação pode ser vista até nas plantas exóticas encontradas na trilha, “dracenas”, “dendês” e “comigo-ninguém-pode”; normalmente “plantadas próximo as habitações por re presentarem força, proteção e resistência” (FIUZA, 2019, p.13); são exemplos desses vestígios de ocupação em forma botânica.
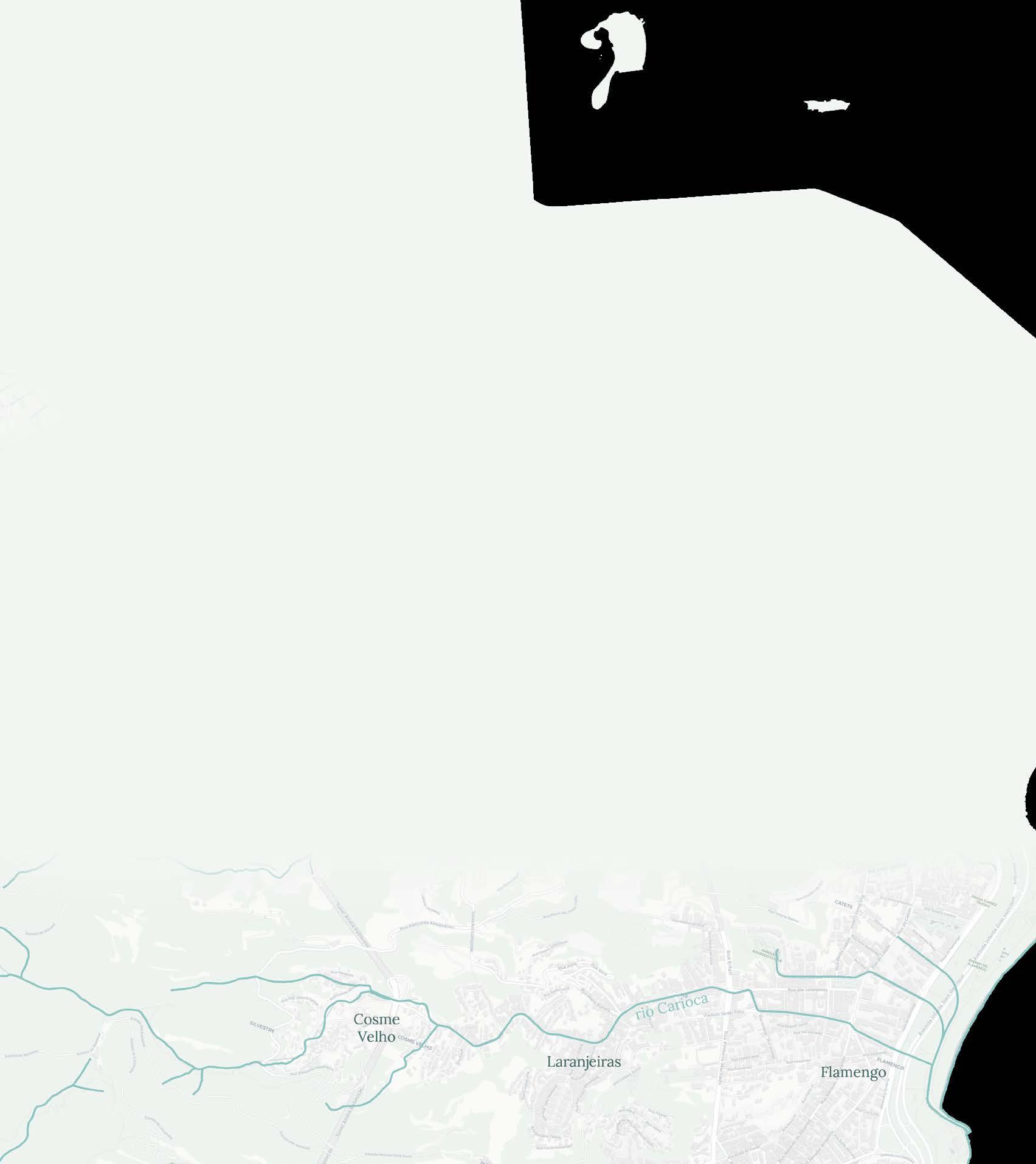
ce, more lasting as it is than that of the natural objects of the world around it, can be gifted with even so much as these possess of language and of life.”

33
Ao descermos mais essa trilha, chegamos ao Reservatório do Carioca (figura 10 à 23 ). Aqui temos o que para mim é um ponto de inflexão no trajeto do rio. Se para trás tivemos o rio em sua forma quase natural, com poucas interferências humanas, daqui para frente o veremos cada vez mais urbanizado e fragmentado. O Reservatório é, então, nesse meu olhar pessoal, um ponto em disputa ou um portal que separa de um lado o rio como um elemento místico que ainda atrai o interesse das pessoas que adentram sua trilha e bebem da sua água da mesma maneira que nossos antepassados o fizeram e, talvez, pensando como eles: que aquelas águas ditas férreas teriam poderes especiais capazes de embelezar, curar anemia ou aumentar a virilidade de quem as bebia (DE ALMEIDA, 2013). Já do outro lado, o rio como recurso hídrico, pronto para ser manipulado, usado ou suprimido pela cidade na medida da sua necessidade.
As imagens do conjunto arquitetônico asso ciado ao reservatório estão separadas em três tempos: antes do restauro de 2019, logo após sua execução e hoje, em 2022. Percebo, analisando essas imagens, a força contida na mata. Mesmo a sociedade tentando controlar esses espaços, em pouco tempo eles voltam a lentamente ser absorvidos. Sementes que já estavam ali no solo, indesejadas no projeto paisagístico do restauro que valorizava a monocultura das gramíneas, eclodem e o jardim passa a ter novas formas e cores não planejadas. Sobre as pedras e escadarias úmidas em função dos vapores do rio e da mata nasce o limo que tinge de verde as fissuras da cantaria.
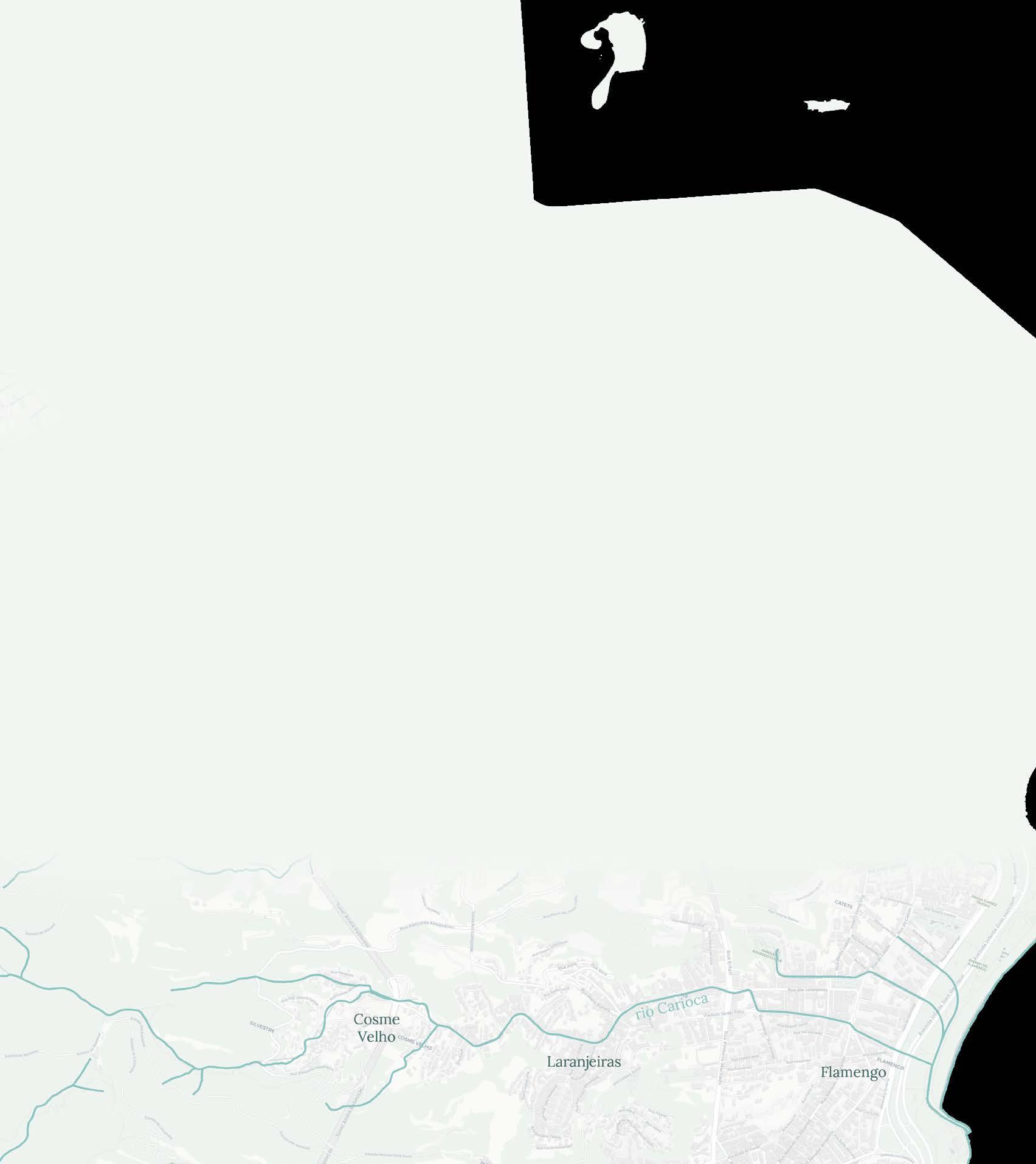
O paisagista francês contemporâneo Gilles Clément em seu Menifeste du Tiers Paysage vai defender a valorização desses espaços de margem cuja “diversidade biológica ainda não é vista como rique za” (CLÉMENT1 , 2004, p.1). O paisagista vai argumentar que toda forma de desenvolvimento urbano tem como subproduto a produção de delaissés: espa ços que estão em um caminho intermediário entre o controle formal exercido pela sociedade e aqueles em que há um meio natural dominante. Daremos, então, especial atenção a esses delaissés ou espaços de margem associados ao rio Carioca neste projeto, tendo sempre em mente a potência paisagística que eles podem guardar (CLÉMENT, 2004).
1 Traduzido livremente pelo autor. Original:” [...] diversité biologique qui n’est pas à ce jour repertoriée comme richesse.”

34
FIGURA 11:


AQ Engenharia


FIGURA



FIGURA 14: Casa do Cloro após o restauro. FONTE: AQ Engenharia (<https://www.aqengenharia.com.br/copia-es tacao-mae-d-agua-1> Acessado em: 07/06/2022).
FIGURA
 FIGURA
FIGURA
10: Reservatório do Carioca antes do restauro em 2006. FONTE: FRANCO, 2006, p.6.
13: Casa do Cloro em 2006. FONTE: FRANCO, 2006, p.6. FIGURA 12: Reservatório atualmente. FONTE: acervo pessoal (mar/2022).
15: A Casa do Cloro atualmente. FONTE: acervo pessoal (mar/2022).
Reservatório restaurado em 2019. FONTE:
(<https://www.aqengenharia.com.br/copia-es tacao-mae-d-agua-1> Acessado em: 07/06/2022).
35
FIGURA 16: Jardim na frente do reservatório, foto atual. FONTE: acervo pessoal (mar/2022).
FIGURA 19: Jardim do reservatório, 2019.
FONTE: AQ Engenharia (<https://www.aqengenharia.com.br/copia-es tacao-mae-d-agua-1> Acessado em: 07/06/2022).
FIGURA 17: Casa do Encarregado, foto atual. FONTE: acervo pessoal (mar/2022).
FIGURA 18: Casa do Encarregado, foto atual. FONTE: acervo pessoal (mar/2022).

FIGURA 20: Jardim do reservatório, 2019.


FONTE: AQ Engenharia (<https://www.aqengenharia.com.br/copia-es tacao-mae-d-agua-1> Acessado em: 07/06/2022).
FIGURA 21: Cisternas do reservatório, 2019.
FONTE: AQ Engenharia (<https://www.aqengenharia.com.br/copia-es tacao-mae-d-agua-1> Acessado em: 07/06/2022).




36

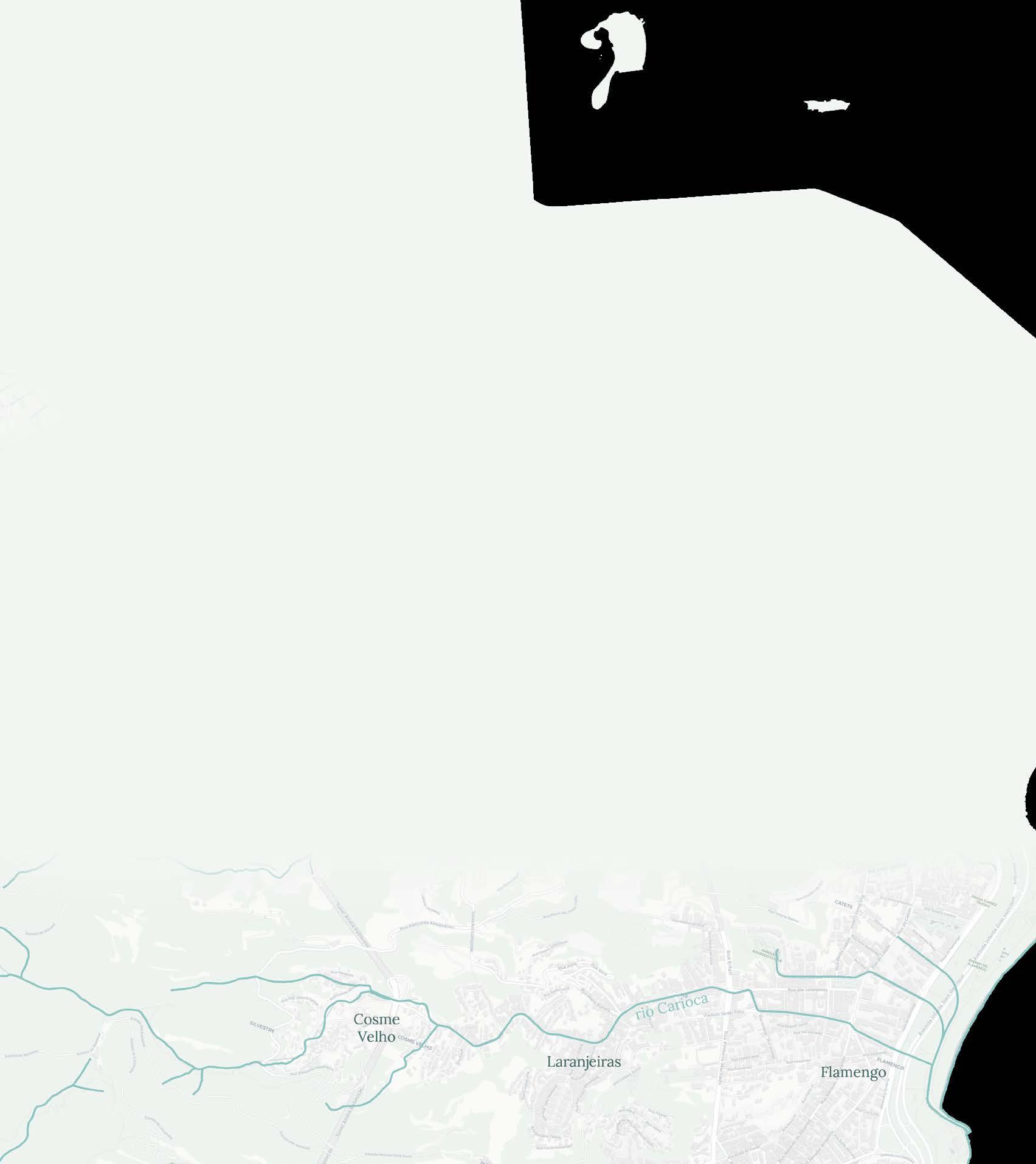


 FIGURA 22: O reservatório em 1994. FONTE: acervo da
FIGURA 22: O reservatório em 1994. FONTE: acervo da
Estela Fontenelle1 . 1 Estela Fontenelle defendeu em 2003 a dissertação Os Rios Urbanos e a Dinâmica da Paisagem: A Inserção do Rio Carioca na Cidade do Rio de Janeiro e gentilmente cedeu algumas fotos para esse trabalho.
FIGURA 23: O reservatório retornando ao estado anterior, foto atual. FONTE: acervo pessoal (mar/2022).
37
Caso continuemos o nosso percurso, veremos que o rio Carioca se derrama por um leito de pedra que passa na frente da casa do cloro (figura 24 e 25). Em seguida ele segue e passa por baixo de um arco de pedra. Pela pri-

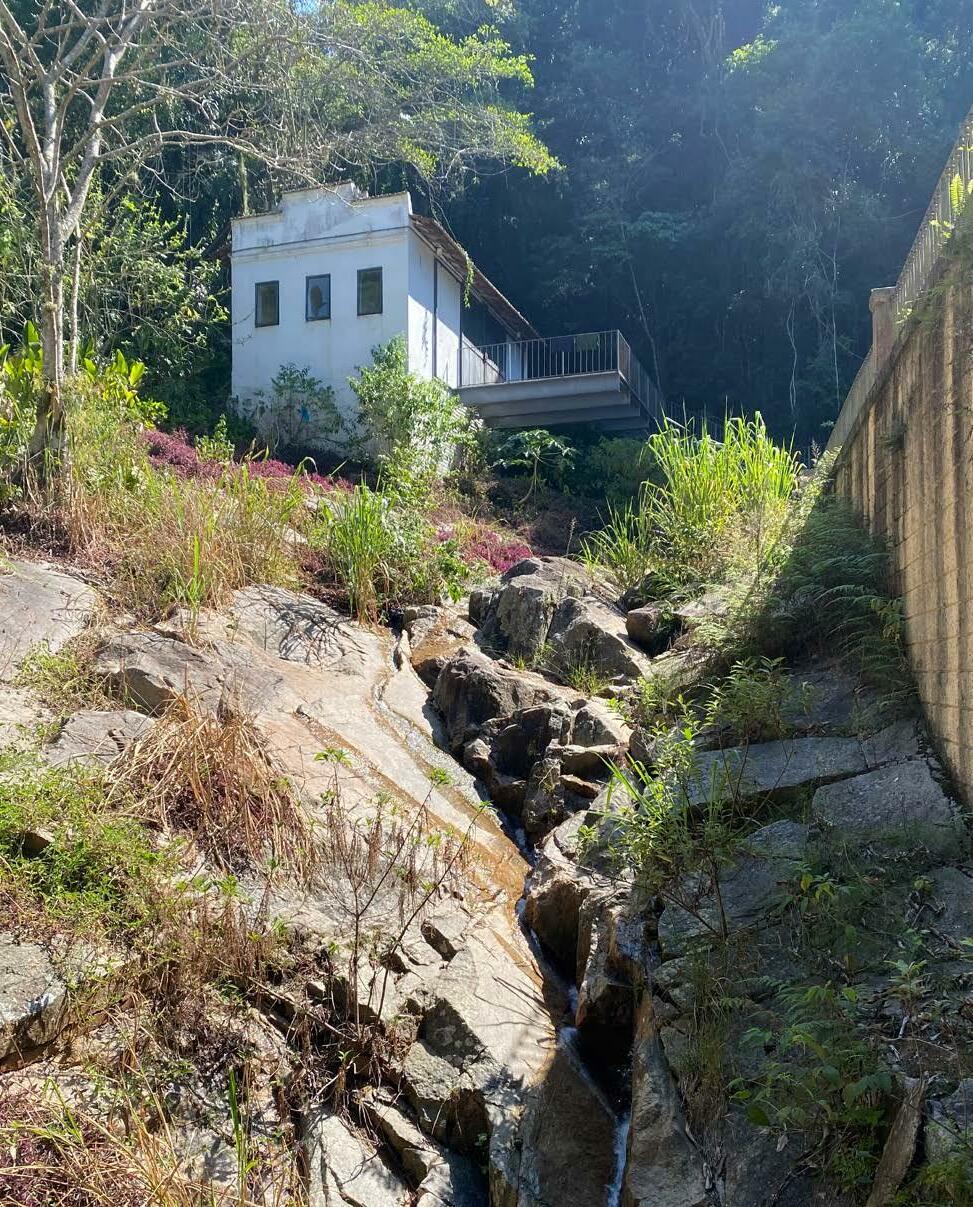
meira vez, o rio Carioca entra em uma galeria subterrânea (figura 26). Trata-se de um seguimento curto, ele cruza a rua Almirante Alexandrino e é dividido em dois cursos. No primeiro, a água é encaminhada diretamente para um
FIGURA 25: Rio Carioca descendo pelo leito de pedra, 2006.
FONTE: FRANCO, 2006, p.8.
leito rochoso que vai dar continuidade ao rio. Já no segundo, um pequeno desvio leva parte do rio para um duto de pedra que jorra formando uma cascata.

38
FIGURA 24: Rio Carioca descendo pelo leito de pedra, foto atual. FONTE: acervo pessoal (mar/2022).


39
FIGURA
26: A
primeira entrada
do
Carioca em galeria subterrânea.
FONTE: acervo pessoal (mar/2022).
Essa cascata, conhecida como Piscininha do Silvestre (figura 29 e 30), gera uma queda d’água de uns dez metros até encher duas pequenas represas (figura 27) que, por sua vez, transbordam retornando, eventualmente, ao rio. Esse local se tornou verdadeiro refúgio tanto para a população local quanto para turistas. Famílias vigiam os filhos enquanto eles aproveitam as piscinas formadas pelas duas represas, jovens conversam em um banco circular de pedra enquanto um cachorro divertidamente corre pelo local entrando e saindo do bosque que existe ao lado da piscina. Ambulantes instalados tanto nos pequenos mirantes da rua Almirante Alexandrino quanto na escadaria que dá acesso às piscininhas tentam comercializar seus produtos, um deles varre o caminho de pedras para deixá-lo sem folhas secas. Profissionais da prefeitura fazem reparo na escadaria (figura 32), pintam suas colunas de branco e trocam os tubos metálicos que formam o corrimão. Jovens turistas chegam (figura 31), alguns adentram a trilha pelo reservatório, outros se sentam no parapeito da rua Almirante Alexandrino, aqui na forma de um viaduto sustentado por uma sequência de vigas e pilares entremeados pela vegetação que tenta conquistar seu espaço (figura 33).


FIGURA 27: Arco de pedra da Piscininha. FONTE: acervo pessoal (jun/2022).

FIGURA 28: Acesso à escadaria pela rua Almirante Alexandrino. FONTE: Google Street View (Acessado em: 06/06/2022).
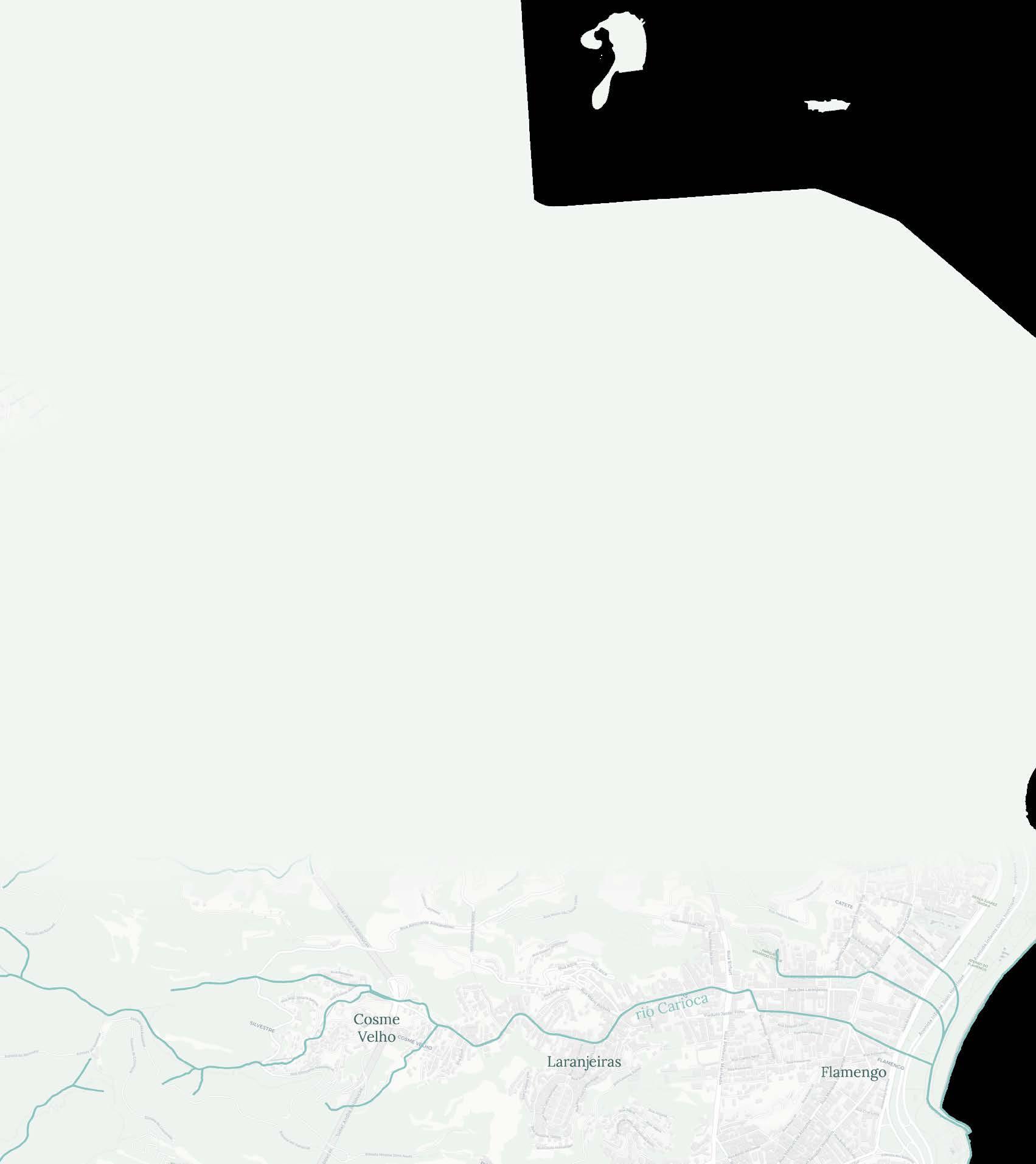
40


 FIGURA
FIGURA
29:
Piscininha do Silvestre. FONTE: acervo pessoal (jun/2022).
41
FIGURA 30: Piscininha do Silvestre vista de cima.
FONTE: acervo pessoal (jun/2022).
A sensação que essa ambiência desperta é de uma atração quase magnética a essa composição complexa entre fragmentos construídos pela sociedade e a natureza que os envolve. Fica implícito nessa paisagem a percepção de um local marcado pela passa gem do tempo. Só a partir do seu transcorrer poderíamos encontrar essa delicada relação entre sociedade e natureza: o homem varre o caminho de pedra, os trabalhadores reparam o corrimão, as crianças se jogam nas piscinas e o rio transborda e continua o seu caminho, musgos e trepadeiras se fixam firmemente nas paredes de cantaria e árvores se entrelaçam com os pilares de concreto. Essa estética de composição pode ser caracterizada como pitoresca.




Ruskin é sucinto ao definir o pitoresco: “o sublime parasitário” (RUSKIN1 ,2014, p.2366). É a ideia de que existe no edifício analisado algo sublime, mas que está ao mesmo tempo deslocado, uma vez que não faz parte do “centro” da obra ou da sua concepção ori ginal. São acidentes, plantas que se instalam nas paredes do edifício, alterações na cor em função das intempéries, danos no reboco, perdas de ornamentos e marcas do tempo em geral. Essa estética só é possível mediante uma interação da arquitetura com seu meio no tempo. É a marca, também, de um trânsito entre o momento em que a obra foi dita completa e sua total dissolução pela natureza que
1 Traduzido livremente pelo autor. Origi nal: “Parasitical Sublimity”.
FIGURA 31: Jovem visitante se projeta no parapeito.
FONTE: acervo pessoal (jun/2022).
FIGURA 32: Trabalhadores concertam o corrimão.
FONTE: acervo pessoal (jun/2022).
42
a circunda. O curioso é que John Ruskin parece, então, deslocar o que seria esse momento de completude da obra, deixa de ser a último gesto construtivo ou o início de seu uso pelas pessoas e se torna um momento indefinido, assintótico – estamos sempre nos aproximando dele à medida que o tempo passa, mas nunca chegamos a uma conclusão do processo, apenas, e de forma abrupta, sua dissolução total e aí o edifício já deixou de existir.
Seu último dia virá, mas deixe que ele venha declarada e abertamente e não deixe que a desonra e um fal so substituto retire dele seus ofícios funerários da memória (RUSKIN2 , 2014, p.2373).
2 Traduzido livremente pelo autor. Origi nal: “Its evil day may come at last; but lei it come

Gilles Clément vai encarar essa relação entre humanidade, natureza e tempo como o cerne de seus projetos. Para ele, é a interação contínua desses três elementos que pode formar um Jardim em Movimento. O paisagista, desse modo, deve agir:
..., projetando de ma neira que o movimento possa se dar livremente, desejando-se que seja a própria vegetação que cresça, projetando linhas de fuga para que avancem os fluxos; definindo os itinerários o próprio caminhar dos visi tantes, criando, em definitivo, formas rizomáticas. Da mesma maneira que o pitoresquismo, que se remetia a pinturas campestres italianas, os jardins em movimento se remetem a uma ideia poética, mágica e mental declaredly and openly, and let no dishonouring and false substitute deprive it of the funeral offi ces of memory”.
do jardim na terra, que busca retornar ao seu estado selva gem, que ressurge no terreno baldio (MONTANER, 2008, p.185).

Portanto será essa estética vinculada a passagem do tempo defendida tanto por Ruskin como por Clément, mesmo sendo por motivos diferentes, que norteará este trabalho de conclusão de curso. Desse modo, será um projeto que visa articular conhecimentos das áreas de patrimônio e paisagismo de maneira que sejam propostas melhorias para os fragmentos do rio Carioca.
 FIGURA 33: Jovem visitante se projeta no parapeito. FONTE: acervo pessoal (jun/2022).
FIGURA 33: Jovem visitante se projeta no parapeito. FONTE: acervo pessoal (jun/2022).
43
FIGURA 35: Descida do rio Carioca, trabalhadores removem árvores que caíram em seu curso.


FONTE: acervo de Lenice Paim.
FIGURA 36: Descida do rio Carioca e ribanceira com as primeiras residências.

FONTE: acervo de Lenice Paim.
1 Lenice Paim foi moradora da comunidade do Guararapes e participou ativamente do pro grama Conservando Rios da Prefeitura do Rio de Janeiro. Gentilmente, cedeu suas fotos para esse trabalho.
FIGURA 37: Rio Carioca se Aproxima do Guararapes.
FONTE: acervo de Lenice Paim.
FIGURA 38: Rio Carioca se Aproxima do Guararapes.

FONTE: acervo de Lenice Paim.

FIGURA 39: O rio se aproxima de Guararapes; à esquerda: lheiro Lampreia; e à direita: a comunidade.


FONTE: acervo de Lenice Paim.
 FIGURA 34: Rio Carioca continua sua descida depois de passar na Piscininha do Silvestre.
FONTE: acervo de Lenice Paim1
FIGURA 34: Rio Carioca continua sua descida depois de passar na Piscininha do Silvestre.
FONTE: acervo de Lenice Paim1
44
muro de residência unifamiliar com acesso na rua Conse
Podemos, então, continuar nosso percurso paralelo ao rio. Tendo passado pela Piscininha do Silvestre, ele segue seu curso em leito de rocha formando um verdadeiro vale nessa paisagem (figura 27 a 37). Aqui começamos a ver o rio justaposto à favela do Guararapes. Pela primeira vez, o rio cruzará uma região residencial.





FIGURA 40: O rio se aproxima de Guararapes.
FONTE: acervo de Lenice Paim.

FIGURA 41: Rio Carioca logo após ter passado pela Piscininha.
FONTE: acervo de Lenice Paim.

45
















 FIGURA 42: o rio e Guararapes. FONTE: acervo de Lenice Paim.
FIGURA
FIGURA 42: o rio e Guararapes. FONTE: acervo de Lenice Paim.
FIGURA
44:
Baldio 1. FONTE: Google Street View.
FIGURA
46:
Baldio 2. FONTE: Google Street View.
FIGURA 48: Baldio 4. FONTE: Google Street View.
FIGURA
47:
Baldio 3.
FONTE:
Google Street View.
FIGURA
49:
Baldio 5.
FONTE:
Google Street View.
FIGURA
45:
Baldio 1. FONTE: Google Street View.
FIGURA 43: o rio e Guararapes. FONTE: SCHLEE, 2002, p. 85.
46
O rio nesse trecho divi de de um lado a comunidade do Guararapes (figura 41 e 42) organizada em uma sequência de ca sas com acesso ou abertura à via Carioca. Já do outro, temos os fundos de lotes com acesso para a rua Conselheiro Lampreia. Vários desses lotes encontram-se baldios (figura 43 a 48) tendo apenas em suas extremidades servidões que conectam a rua Conselheiro Lampreia com a via Carioca através de pontes que permitem o cruzamento do rio.
Partindo desses baldios, penso logo em como eles podem ser transformados tendo em vista a metodologia proposta por Clément. O paisagista vai encarar a biodiversidade que naturalmente surge nesses espaços ao longo do tempo como algo a ser protegido. Além disso, segundo o autor, devemos buscar sempre “orientar um jogo de trocas territoriais, retribuições e dispositivos de conexão entre polos de atividade. Desenhar uma malha territorial
ampla e permeável” (CLÉMENT1 , 2004, p.24-25). Precisamos, portanto, pensar em como criar mais conexões entre esses elementos, a favela, os baldios, a via Carioca, a rua Conselheiro Lampreia, a subida e a piscininha chegando até o reservatório e a mata que o circunda. Ademais, Clément vai afirmar também a importância de se “privilegiar a criação de espa ços de Terceira Paisagem de gran de dimensão a fim de cobrir toda a extensão de espécies capazes de viver e se reproduzir” (2004 p.24). Por conseguinte, não basta aumentar as conexões existentes entre a terceira paisagem e a cida de, mas também se deve “buscar prever a junção dos delaissés e re servas para se constituir territó
1 Traduzido livremente pelo autor. Origi nal: “Orienter le jeu des échanges fonciers, des réaffectations et des dispositifs de liaisons entre les pôles d’activité. Dessiner um maillage du territoire large et perméable”.
2 Traduzido livremente pelo autor. Origi nal: “Provilégier la création d’espaces de Tiers Paysage de grande dimension afin de couvrir l’étendue des espaces capables d’y vivre de s’y reproduire”.

rios com continuidade biológica” (CLÉMENT 3, 2004, p.24) (figura 49).

3 Traduzido livremente pelo autor. Origi nal: “Prévoir le couplage des délaissés aux réser ves pour constituer des territoires de continuité biologique”.
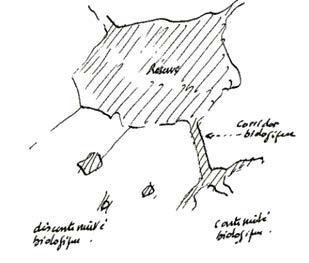

FIGURA 50: Croqui sobre corredor ecológico de autoria de Gilles Clément.
FONTE: CLÉMENT, 2004, p.18.
47
FIGURA 51: A casa Geyer e seu jardim.
FONTE: Site do Museu Imperial (< https:// museuimperial.museus.gov.br/casa-geyer/> Acessado em 08/06/2022).


É logo após ao baldio cinco que o rio Carioca vai mais uma vez entrar em uma galeria subterrânea, cruzando a rua Conselheiro Lampreia até chegar à quadra seguinte. Nela está a Casa Geyer (figura 51) que conta até mesmo com uma pequena ponte para se atravessar o rio que corta o jardim da propriedade.
Tendo passado pela casa Geyer, chegamos no Instituto Casa Roberto Marinho (figura 52 à 55). Aqui o rio Carioca sofre mais um desvio: Enquanto parte da água vai para uma galeria subterrânea que transpassa o terreno
FIGURA 52: Desvio do Carioca no Instituto Casa Roberto Marinho; paisagismo do Burle Marx.
FONTE: acervo pessoal (mar/2022).
da casa, outra parte é tratada por uma pequena estação e torna-se o riacho que podemos ver quando visitamos o instituto. É importante notar que o projeto de paisagismo é do paisagista brasileiro Roberto Burle Marx (1909 - 1994). Essa é uma das duas situações em que um jardim de sua autoria é cruzado pelo rio Carioca (a outra sendo o Parque do Flamengo).
Passando dos muros do Instituto Casa Roberto Marinho as águas do Carioca voltam a se encontrar em um canal aberto (figura 56 à 58) com guarda-corpo em pedra madeira na rua Cosme



FIGURA 53: Desvio do Carioca no Instituto Casa Roberto Marinho; paisagismo do Burle Marx.
FONTE: acervo pessoal (mar/2022).
Velho. Na verdade, vemos dois canais nesse ponto, um em cada lado da rua. Trata-se do Carioca de um lado, como já foi dito, e do outro um de seus afluentes, o rio Chororó. Nesse momento, um odor forte de esgoto pode ser sentido caso se aproxime de um dos canais. A junção de suas águas deve ocorrer de forma oculta, em algum lugar um pouco mais a frente, embaixo da rua Cosme Velho.
48
FIGURA 54: Instituto Casa Roberto Marinho. FONTE: acervo pessoal (mar/2022).
FIGURA 56: O rio Carioca canalizado. FONTE: acervo pessoal (mar/2022).



FIGURA 55: Instituto Casa Roberto Marinho. FONTE: acervo pessoal (mar/2022).
FIGURA 57: O rio Carioca canalizado. FONTE: acervo pessoal (mar/2022).
FIGURA 58: O rio Carioca canalizado. FONTE: acervo pessoal (mar/2022).






49
À medida que continu amos nosso percurso, cruzamos o viaduto do túnel André Rebouças com extrema dificuldade, pois carros passam por todos os lados e não existe um caminho pensado para o pedestre nesse trecho. Em um canteiro logo abaixo do Rebouças, uma tenda protege um grupo de jovens que buscam con tato com as pessoas que passam ali dirigindo seus veículos (figura 59). Trata-se do projeto social “Anfitriões do Cosme Velho”, reconhecido pelo ICMBio, tem como objetivo aliar desenvolvimento do turismo, execução de projetos

FIGURA 59: Anfitriões do Cosme Velho. FONTE: Google Street View (Acessado em: 06/06/2022)

educacionais e geração de empre gos para os jovens das comunidades do bairro . Do lado direito do viaduto, na direção Tijuca, uma pequena praça tem um guarda-corpo em pedra que esconde o rio Carioca (figura 60).


Algumas partes dessa pequena praça foram tombadas pelo INEPAC em 19901. Esse tombamento se deu junto com todo conjunto arquitetônico que forma
1 Verbete explicativo do mapa de prote ção do IRPH. Trata-se, segundo esse verbete, da “Mina d’água da antiga casa do Conde de Agro longo” (https://www.data.rio/apps/PCRJ::patri monio-cultural-carioca/explore Acessado em: 08/06/2022)

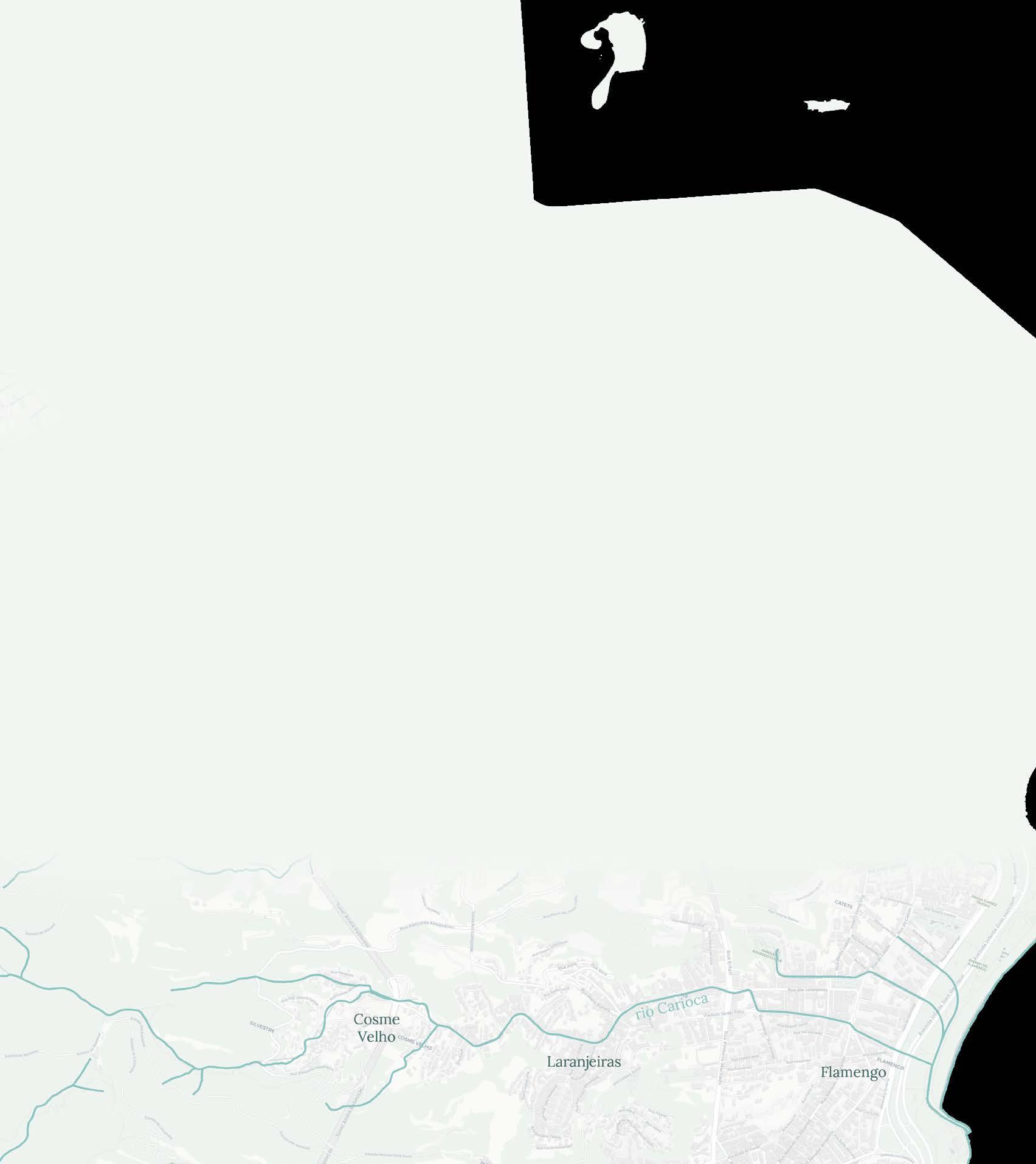
FIGURA 60: Praça com guarda-corpo de pedra. FONTE: acervo pessoal (mar/2022).
o Largo do Boticário (figura 61). Nele, pode ser encontrados mais fragmentos do Carioca na forma de canais (figura 62 e 63) que cru zam o largo perpendicular à sua via de acesso. As paredes que formam esse canal são formadas de camadas de diferentes materiais: uma primeira de cantaria e a segunda de concreto. Isso provavel mente é sinal de como o exercício de conter o rio Carioca foi um esforço que cruzou gerações.
50
FIGURA 61: Largo do Boticário. FONTE: acervo pessoal (mar/2022).

Pela última vez veremos o rio Carioca aberto até a chegada em sua foz. Um pouco mais à frente na rua Cosme Velho, na direção para Laranjeiras, um ponto de ônibus final está atrás de uma calçada que possui um canal aberto em dois trechos (figura 64). Eles são estreitos, com cerca de 1,5 m de largura e um guarda-corpo de concreto que obriga a quem quer ver o curso d’água a projetar o corpo na direção do canal (figura 65). É nesse ponto, também, que se encontram duas bifurcações importantes: a Ladeira do Cerro Corá (figura 66) e a Ladeira do Ascurra. A primeira corresponde ao acesso à Favela do Cerro Corá, já a segunda, é por onde, de maneira
FIGURA 62: Canal no Largo do Boticário. FONTE: acervo pessoal (mar/2022).
enterrada, passa um dos afluentes do Carioca: o Rio Silvestre. Sua existência é totalmente oculta no contexto urbano e o único vestígio desse rio encontrado é mais adiante na subida da Ladeira do Ascurra quando se chega ao Reservatório do Morro do Inglês (figura 67). Esse reservatório, construído em 1868, recebia águas tanto do Rio Silvestre quanto água excedente do Reservatório do Carioca. Depois da sua desativação, passou a ter outros usos, foi um núcleo do Mobral entre 1975 e 1983 e, posteriormente foi ocupado por uma família (FRANCOb, 2006). Hoje parece estar abandonado e em processo de arruina-

FIGURA 63: Árvore se agarra na lateral do canal.
FONTE: acervo pessoal (mar/2022).

mento. Se descermos a ladeira e voltarmos à Rua Cosme Velho na altura do ponto de ônibus circular o que se pode concluir agora é que ali, de maneira clandestina e desavisada, é onde se encontram rio Carioca e rio Silvestre; visão essa corroborada caso seja analisado o mapa hidrográfico da cidade (figura 91, p.76).


51
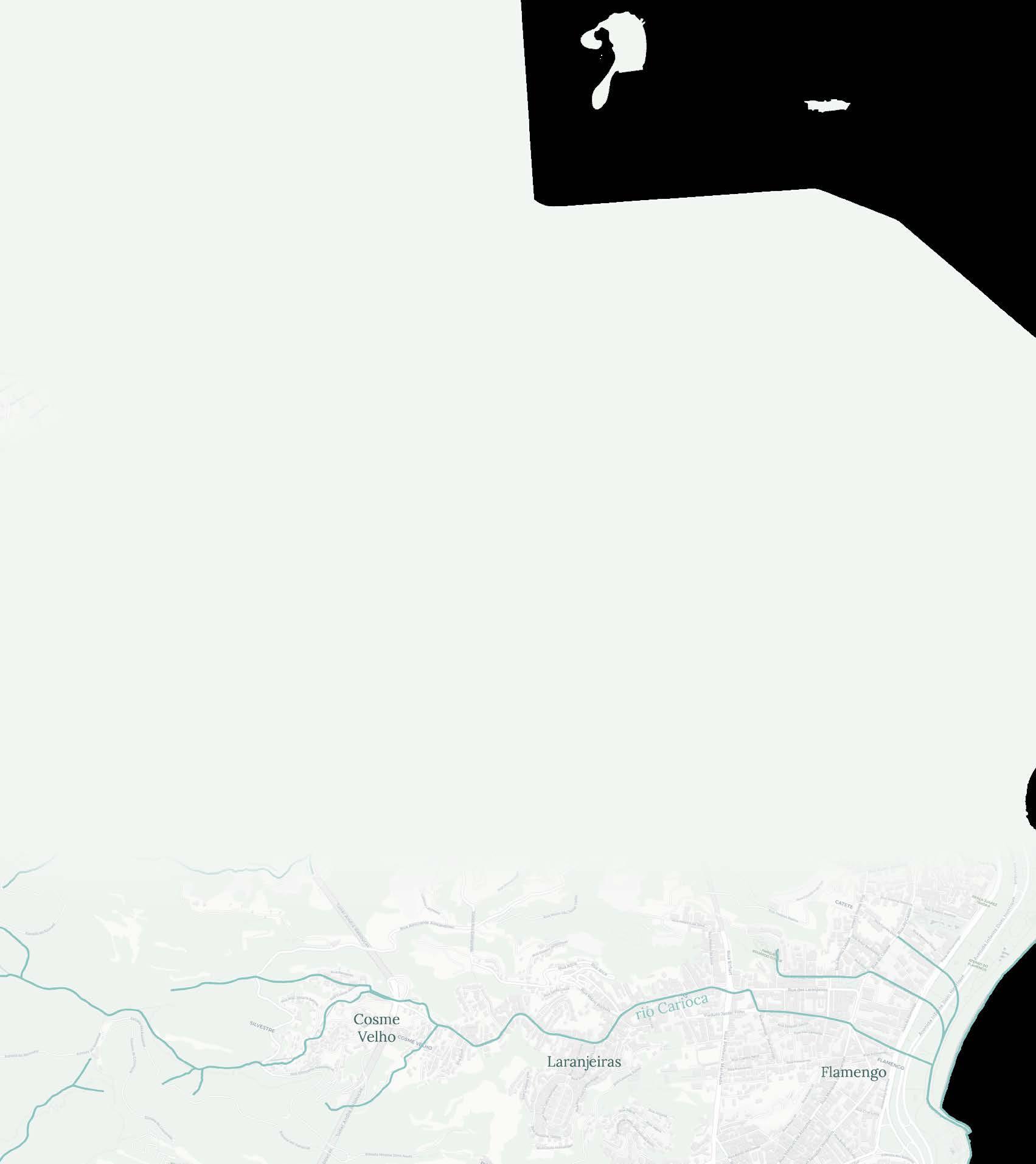











FIGURA 64: Os dois canais, o ponto final ao fundo e a rua Cosme Velho. FONTE: acervo pessoal (mar/2022).
FIGURA
66: A ladeira do Cerro Corá. FONTE: acervo pessoal (mar/2022).
FIGURA
67: O Reservatório do Morro do Inglês e ladeira do Ascurra. FONTE: Google Street View (Acessado em: 06/06/2022). FIGURA 65: O canal visto de perto. FONTE: acervo pessoal (mar/2022). 52


 FIGURA 68: Bica da Rainha atrás de grade cerrada com cadeado. FONTE: acervo pessoal (mar/2022).
FIGURA 68: Bica da Rainha atrás de grade cerrada com cadeado. FONTE: acervo pessoal (mar/2022).
53
Após os canais, o rio Ca rioca desaparece do cenário urbano. Em galerias subterrâneas, ele vai cruzar Laranjeiras, Catete e Flamengo, onde se encontra sua foz.
Contudo, existe mais um fragmento importante nesse tra-




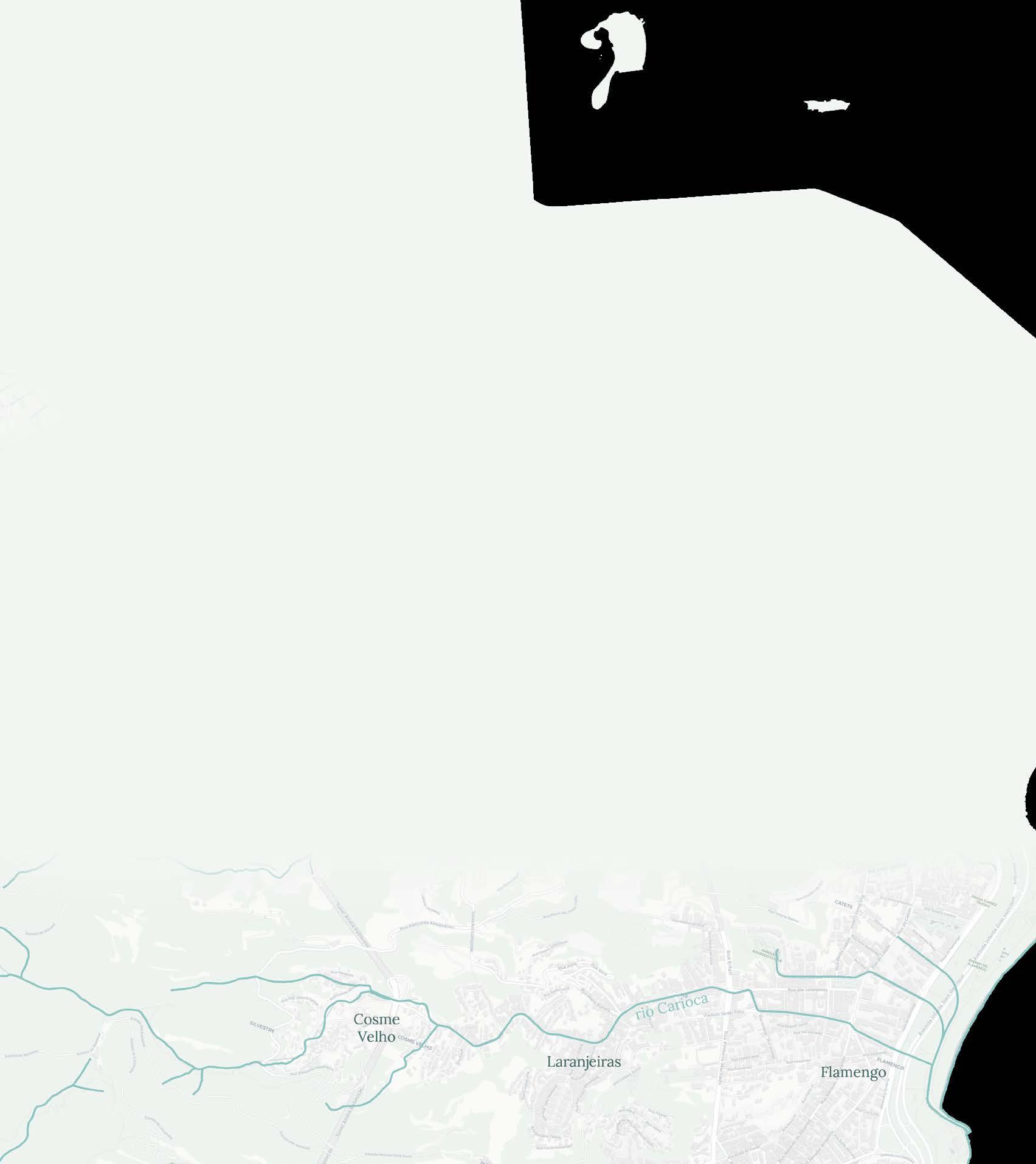
jeto. Ainda no Cosme Velho, te mos a Bica da Rainha (figura 68 e 69).
Vendo essas imagens, podemos perceber que hoje a Bica da Rainha está totalmente descontextualizada da ideia de que, em algum momento, um rio per-
correu seu entorno. Ademais, ela também está desconectada do próprio meio urbano. A um metro abaixo do nível da calçada e atrás de um gradil cerrado a cadeado, esse patrimônio, tombado pelo IPHAN em 1938, pode muito bem passar despercebido por qualquer transeunte que por ali caminhe.
 FIGURA
FIGURA
69: Bica da Rainha e sua relação com a rua Cosme Velho. FONTE: Google Street View (Acessado em: 06/06/2022). 54
A partir daqui não há so lução, devemos abraçar a descontinuidade e migrar diretamente para a foz do rio Carioca, no Par que do Flamengo. Finalmente, trata-se do último fragmento relacionado ao rio, sua foz. É simbó lico, aqui, a existência de um Cen-

tro de Tratamento (figura 70 e 71) construído em 2003 que tem como objetivo limpar a água do Carioca antes dela ser lançada na Baía da Guanabara. É a confirmação prática de que esse curso d’água é encarado pelo poder público apenas como mais uma galeria de esgota-

FIGURA 70: O Centro de Tratamento (CTR) do Flamengo. FONTE: Google Street View (Acessado em: 06/06/2022).

mento da cidade. Além disso, um deck de madeira (figura 72 e 73) esconde a maior parte do rio nesse local, sendo visível apenas uma pequena parte logo após a estação de tratamento e outra na extremidade da foz.

FIGURA 72: Deck de madeira que esconde o rio Carioca. FONTE: Google Street View (Acessado em: 06/06/2022).


55
Estética da ruína em John Ruskin
John Ruskin foi um escritor, teórico inglês do restauro, crítico de arte, filósofo e polímata que viveu entre 1819 e 1900. Nesse momento, a Inglaterra passava pelas intensas transformações causadas pela Revolução Industrial. Um dos setores sociais mais afetados foi o trabalhista. A indústria gerou rígidas divisões de trabalho e mecanização de seus processos que, segundo o autor (2014), afastaram o trabalhador daquilo que ele estava produzindo. Além disso, êxodo rural em massa vai acarretar na rápida expansão dos centros urbanos da época. Rapidamente, cidades que ainda possuíam ares medievais vão passar por profundas transformações para se tornarem aptas a receber essa grande quantidade de pessoas e criar uma paisagem correspondente a essa era industrial.
É diante desse contexto que Ruskin e outros como o arquiteto Augustus Pugin (1812 – 1852) e o escritor, poeta e ativista social William Morris (1834 –1896) vão estabelecer um movimento de resistência a essas transformações. Para isso, vão se voltar ao passado, principalmente o medieval, como referência de um momento ideal. Nele, o processo de fabri cação se dava através do artesanato, em uma relação estreita entre o realizador e sua obra balizada pela religiosidade cristã. “Eu não quero igrejas de már more apenas por elas mesmas, eu as quero por causa do espírito de quem as constrói” (RUSKIN1 , 2014, p.2195).

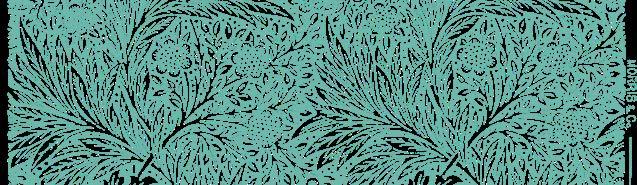
A base teórica desenvolvida por Ruskin vai, então, culminar no movimento Arts & Crafts que
1 Traduzido livremente pelo autor. Original: “I do not want marble churches at all for their own sake, but for the sake of the spirit that would build them”.
ambicionava reformar a decoração na Inglaterra do século XIX. O movimento vai organizar e difundir pela Europa uma valorização do passado medieval, da fabricação artesanal e de relações de trabalho sem as divisões impostas pela industrialização.
A teoria do restauro também vai partir dessa mesma base teórica, principalmente levando em conta como a rápida expansão urbana na cidade industrial muitas vezes acarretava a destruição de edifícios históricos.
Eu fui forçado a essa impertinência; e sofri muito pela destruição ou negligência da arquitetura que eu mais amava, e pela construção daquilo que não posso amar (RUSKIN2 , 2014, p.2177).
É a partir desse senso (de que algo está sendo perdido) que Ruskin vai desenvolver sua percepção sobre o valor do patrimônio. Ela pode ser dividida em três argumentos maiores, dois deles já visitados nesse trabalho: as marcas do tempo em um edifício guardam a memória da sociedade que o construiu e só a partir da passagem do tempo atingimos a estética ideal pitoresca.
Um terceiro argumento seria que a destruição ou modificação de determinado edifício seria um insulto para aqueles que o construíram e para as gerações futuras que ainda não o conheceram.
Nós não temos direito de tocá-los. [Esses edifícios] não são nossos. Eles pertencem em parte àqueles que o construíram e em parte a todas as gerações de humanos que estão por vir (RUSKIN3 , 2014, p.2373).
Vai ser o engenheiro, arquiteto e historiador da arte italiano Camillo Boito (1835 – 1914), no final
2 Traduzido livremente pelo autor. Original: “I have been forced into this impertinence; and have suffered too Much from the destruction or neglect of the architecture I best loved, and from the erection of that which I cannot love”.
3 Traduzido livremente pelo autor. Original: “We have no right wha tever to touch them. They are no tours. They belong partly to those who built them, and partly to all the generations of mankind who are to follow us”.

1.2.
56
do século XIX, que vai encontrar um caminho de moderação entre a visão de Ruskin e as visões contemporâneas de Viollet-le-Duc que eram opostas à do inglês quando o assunto era teoria do restauro. O italiano vai desenvolver o restauro filológico que tentava conciliar o pensamento de ambos em uma prática que só deveria ocorrer in extremis. Para bali zar essa prática, ele vai conceber uma série de conceitos como autenticidade, legitimidade e distinção da intervenção, em linhas gerais, fundamentais até hoje.

A sistematização dessas ideias será feita pelo teórico italiano Cesare Brandi (1906 – 1988) na década de 60 do século XXI. Diferentemente do crí tico inglês, ele vai defender que intervenções de restauro possam ser executadas. Todavia, elas deve[m] visar ao restabelecimento da unidade potencial da obra de arte, desde que isso seja possível sem cometer um falso artístico ou um falso histórico, e sem cancelar nenhum traço da passagem da obra de arte no tempo (BRANDI, 2008, p.33).
Percebe-se, desse modo, a continuação de valores defendidos por John Ruskin, como a valorização das marcas do tempo inseridas em uma lógica que vê o restauro como o momento metodológico do reconhecimento da obra de arte, na sua consistência física e na sua dúplice polaridade estética e histórica, com vistas à sua transmissão para o futuro (BRANDI, 2008, p.30).
Portanto, é uma visão de restauro marcada pelo equilíbrio entre o estado presente de um determinado patrimônio, o que ele costumava ser no momento de sua construção e como uma intervenção pode recuperar seus elementos históricos ou estéticos em uma análise caso a caso.
Por conseguinte, é importante realizar uma distinção aqui. Nesse trabalho, John Ruskin é refe rência para a fundamentação teórica da importância da estética da ruína pitoresca. Isto posto, deve-se
estabelecer como diretriz básica do trabalho que ne nhuma escolha projetual venha a comprometer, esconder, ignorar ou rivalizar com essa estética quando ela estiver presente. Contudo, se porventura o vestígio da interação do rio Carioca com a sociedade não estiver em situação de ruína (Bica da Rainha, por exemplo), e se o trabalho reconhecer a necessidade de restauro nesse fragmento, a referência teórica e prática para o seu projeto será a teoria brandiana.
57
1.3. Gilles Clément, a Terceira Paisagem e o Jardim em Movimento
Gilles Clément é um jardineiro, paisagista, engenheiro agrícola, entomologista e escritor nascido em 1943 na área central da França. Ao longo da sua carreira, desenvolveu uma série de conceitos ligados à teoria do paisagismo. Dentre eles, destacam-se três: o jardim planetário, o jardim em movimento e a terceira paisagem.
Clément vai definir o primeiro, o jardim planetário, como “a representação do planeta como um jardim. O sentimento de finitude ecológica faz aparecer os limites da biosfera como o enclave dos seres vivos” (CLÉMENT1 , 2004, p.3). Essa visão expandida do jardim vai ter como consequência, segundo o autor, a percepção de que todos os seres vivos, na medida em que alteram o meio em que vivem, intencionalmente ou não, configuram-se como jardineiros desse grande jardim.
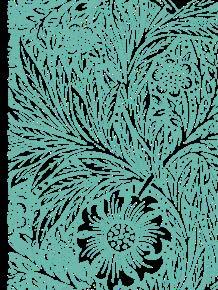

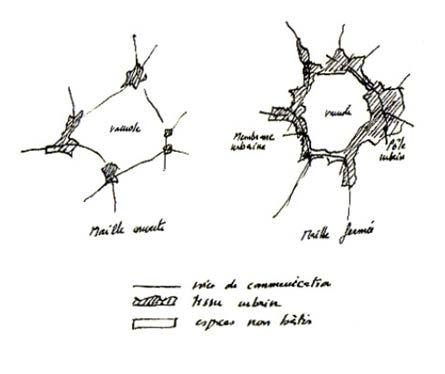
A teoria desenvolvida pelo paisagista também parte da noção de resistência. “Considere os espaços de Terceira Paisagem derivados do desenvolvimento como um contraponto necessário ao próprio desenvolvimento” (CLÉMENT2 , 2004, p.24). As razões para essa resistência aqui se originam a partir da percepção construída pelo paisagista desse Jardim Planetário e sua posterior fragmentação pela expansão urbana. Clément (2004), então, vai argu-
1 Traduzido livremente pelo autor. Original: “Le Jardin planétaire représente la planète comme un jardin. Le sentiment de finitude écologique fait apparaître les limites de la biosphère comme l’enclos du vivant.”

2 Traduzido livremente pelo autor. Original: “Considérer l’accrois sement des espaces de Tiers paysage issus de l’aménagement comme le contre-point nécessaire à l’aménagement proprement dit.”
mentar que toda forma de desenvolvimento produz como efeito colateral delaissés, em tradução livre: locais baldios, abandonados. Esses delaissés normalmente encontram-se em locais de relevo acidentado ou deixados de lado por questões políticas, sociais, religiosas ou jurídicas. Além disso, por não estarem inseridos na lógica de controle formal imposta pe las cidades, eles acabam se tornando abrigo para a biodiversidade. O conjunto desses fragmentos compõe o que o paisagista chama de Terceira Paisagem. A função do paisagista nesse contexto deixa de ser a de impor um conjunto de formas em um espaço livre e passa a ser uma de tentar converter a Terceira Paisa gem em jardim, de maneira que as pessoas possam ter contato direto com sua biodiversidade.
FIGURA 74: Croqui de autoria do Clément, tecido urbano x espaços não habitados.. FONTE: CLÉMENT,2004, p.14..
Clément, portanto, vai valorizar o aspecto natural dos espaços que são resultado colateral da existência das cidades e do meio rural. Esse Jardim em Movimento proposto implica na concepção de um paisagista-jardineiro e na criação de comunidades inteiras voltadas ao ato de jardinar. Desse modo, é uma valorização, também, do crafting dos jardins, do gesto de mantê-los em uma relação de constante mutação, uma construção coletiva com a natureza.
58
1.4. Entre Ruskin e Clément

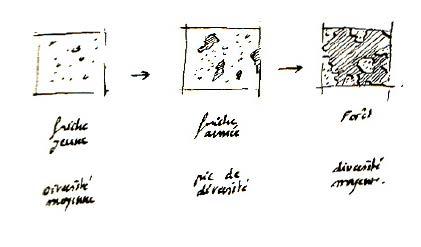
Cento e vinte e quatro anos separam o nascimento desses dois teóricos. As reflexões e ansiedades que os levaram a desenvolver suas respectivas teorias só fazem sentido à luz das características dos momentos em que viveram. Se John Ruskin estava preocupado com o impacto da Revolução Industrial nas relações de trabalho e do espírito humano, Gilles Clément tem na crise ambiental seu maior estímulo para ação. Portanto, acredito que ambos os autores estavam reagindo a transformações profundas de suas sociedades. Nos dois casos, essas reações se deram de maneira propositiva. Enquanto Ruskin vai sugerir um retorno ou continuação de um passado medieval idealizado que descarta a ruptura trazida pela Revolução Industrial, Clément vai eleger as margens urbanas e rurais como campo a partir do qual um novo modelo socioeconômico, centrado na biodiversidade, pode florescer.
Esses dois teóricos vão eleger o mesmo protagonista para suas visões de mundo: o tempo. Ruskin afirma que ele é
tão essencial para mim [Ruskin], que eu chego ao ponto de acreditar que um edifício não pode ser considerado no seu ápice até quatro ou cin co séculos terem se passado (RUSKIN1 , 2014, p.2370).
Para o inglês, será a passagem do tempo que irá conferir ao edifício a capacidade de comunicar algo às gerações futuras.
Nós aprendemos mais sobre Grécia a par tir dos seus fragmentos arruinados e das suas esculturas do que de seus doces cantores e soldados historiadores (RUSKIN2 , 2014, pg.2356).
1 Traduzido livremente pelo autor. Original: “so essential to my mind, that I think a building cannot be considered as in its prime until four or five centuries have passed over it”.
2 Traduzido livremente pelo autor. Original: “we have learned more

E fazer com que ele atinja a estética pito resca. “Há beleza no seu efeito [do tempo], que não pode ser substituído por nada, e que é sábio da nossa parte consultar e desejar [...] usualmente e livre mente expresso pelo termo ‘pitoresco’” (RUSKIN3 , 2014, p.2365).
Em Clément o tempo é fator indissociável à realização dos jardins e evolução da Terceira Paisa gem. A própria ideia dos Jardins em Movimento implica diretamente em uma alteração no tempo. Onde antes imperava a existência de um conjunto de es pécies de vegetais, fungos, microrganismos e animais; o passar de meses ou anos pode acarretar na mudança desse conjunto. Novas sementes trazidas por pássaros introduzem novas espécies que podem estar mais bem adaptadas para ocupar determinado nicho ecológico e se tornarem dominantes. Des se modo, a própria paisagem se transforma estabelecendo uma relação dinâmica sem nunca chegar a um equilíbrio totalmente estático.
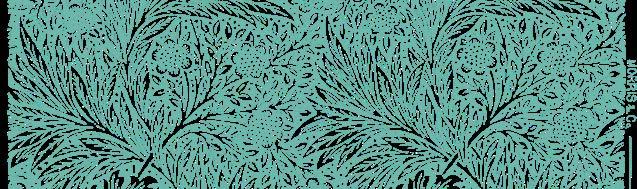
FIGURA 75: Croqui da evolução no tempo de um delaissés. FONTE: CLÉMENT, 2004, p.12.
of Greece out of the crumbled fragments of her sculpture than even from hew Sweet singers or soldier historians”.
3 Traduzido livremente pelo autor: “there is beauty in those effects themselves, which nothing else can replace, and which it is our wisdom to consult and to desire”.
59
Portanto, o papel do jardineiro-paisagista não é o de determinar a priori qual será a forma do jardim ou quais espécies devem ser empregadas. Ele deve sim estudar as relações existentes, preservar sua biodiversidade, tomar a decisão se ela deve ou não se tornar acessível para a sociedade (se transformando ou não em jardim) e se adaptar às alterações que surgem naturalmente.
Essas escolhas de postura projetual implicam em um resultado estético que se afasta do tradicional jardim francês de linhas retas de topiária. O que se vê nos jardins de Clément são formas orgânicas e que o aproximam na verdade do jardim pitoresco inglês (MONTANER, 2008). Quando comparamos a Red House de William Morris (figura 79) e o jardim La Vallée de Clément (figura 80) podemos perceber isso.
Por conseguinte, pode-se dizer que, apesar de serem separados por mais de um século, os dois autores têm pontos de aproximação em seus ideários. Este trabalho de conclusão de curso, então, tentará realizar um projeto que alia a valorização da estética da ruína fundamentada no pensamento de John Ruskin com os conceitos de Terceira Paisagem e Jardim em Movimento de Clément no intuito de criar espaços livres harmônicos na medida em que implicam em uma mesma linguagem que valorize os efeitos imagéticos da passagem do tempo.
FIGURA 76: Red House de William Morris.
FONTE:Site Aprendiz de Viajante (<https://www.aprendizdeviajante. com/red-house-de-william-morris-londres-para-iniciados/> Aces sado em 01/05/2022)


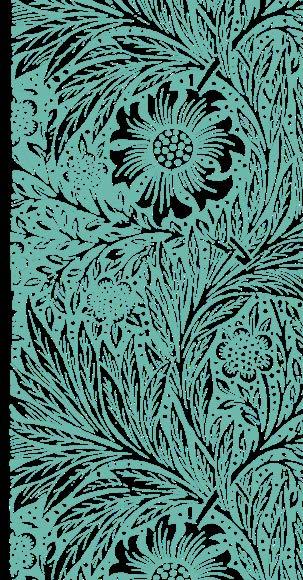

60




FIGURA 77: Jardim “La Vallée” de Gilles Clément. FONTE: Le Monde (<https://jardinage.lemonde.fr/article-168-jardin -mouvement-gilles-clement-salles-12-avril-2017.html> Acessado em: 01/05/2022) 61
Vestígios investigados


02.
FONTE: Realizado pelo autor

O Manual de Elaboração de Projetos de Preserva ção do Patrimônio Cultural do Programa Monumenta/ IPHAN tem como finalidade “consolidar e transmitir os conceitos, normas e preceitos que orientam a preservação do Patrimônio Histórico e Artístico protegido pela União” (GOMIDE, SILVA e BRAGA, 2005, p.9). O capítulo quinto desse texto é dedicado a projetos em Espaços Públicos Urbanos e, dessa maneira, servirá como baliza para a construção dessa investigação mais aprofundada dos vestígios que são o objeto deste trabalho de conclusão de curso.
Outro instrumento importante na produção dessa análise é o arcabouço teórico desenvolvido pelo filósofo, historiador, professor e escritor fran cês diretor do Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) Jean-Marc Besse (1956) desenvolvido no artigo “As cinco portas da paisagem – ensaio de uma cartografia das problemáticas paisagísticas contemporâneas”, de 2014. Esse autor vai defender que a definição uma vez válida de paisagem como “um pano rama natural, geralmente descoberto a partir de um ponto elevado, permitindo, assim que o espectador obtivesse um tipo de domínio visual sobre o território” (2009, pg. 8) não é mais efetivo. Segundo o autor, ela não dá mais conta de abarcar todas as dimensões desse conceito, pois esse teria adquirido uma natureza polissêmica em função da “atomização profissional e acadêmica das diferentes ‘disciplinas’ que fazem dela seu campo de estudo e intervenção” (2009, p. 11). Paisagistas, jardineiros, historiadores, antropólogos, artistas, geógrafos, ecólogos, filósofos e outras áreas do saber refletem sobre o conceito de paisagem de maneira diferente. Besse, então, tenta desenvolver maneiras de agrupar essas interpretações diferentes da paisagem chegando, finalmente, a cinco definições as quais ele vai dar o nome de Por tas da Paisagem.

Essencialmente, a problemática deste traba lho está na paisagem; em especial a relação de desconexão e esquecimento dos vestígios da interação entre o rio Carioca e a sociedade com o seu entorno. As portas de Besse, na medida em que propõe cinco definições diferentes para a paisagem, acabam realizando uma decomposição das suas características. Essa divisão em “pedaços” menores torna a apreensão das complexidades existentes no objeto do estudo mais fácil de ser assimilada.
No capítulo primeiro, já visitamos uma des sas portas. Nela “a paisagem é uma experiência fenomenológica” (BESSE, 2009, p.45). Aqui, a paisagem ganha conotações subjetivas, segundo Besse (2009, p.45) ela “é primeiramente sensível, uma abertura às qualidades sensíveis do mundo”. Dado que já foi exposta a minha percepção pessoal dos fragmentos do Carioca, esse aspecto eminentemente subjetivo da paisagem foi exposto.
No subitem 3.1, veremos o que o Manual de Elaboração de Projetos de Preservação do Patrimônio Cul tural chama de “pesquisa histórica” (GOMIDE, SILVA e BRAGA, 2015, p.38) uma: atividade que consiste na sistematização das informações obtidas por meio de pesquisa documental, arquivística, bibliográfica, iconográfica, fotográfica e de fontes orais, sobre a área de projeto e entorno, objetivando o seu perfeito entendimento (GOMIDE, SILVA e BRAGA, 2015, p.38).
Duas portas de Besse podem ser vinculadas a essa forma de compreender o espaço. Na primeira, a “paisagem é uma representação cultural e social” (BESSE, 2009, p. 12). Aqui a paisagem é estabelecida como “um ponto de vista, um modo de pensar e de perceber, principalmente como uma dimensão da vida mental do ser humano” (BESSE, 2009, p.12). Ela passa, portanto, a ser um “texto humano a ser decifrado” (BESSE, 2009, p.21). Portanto, foco especial será dado em buscar encontrar registros dos frag-
64
mentos do Carioca que ainda fazem parte da paisa gem e tentar estabelecer um nexo entre como eles estavam contextualizados e como se encontram atualmente. Já na segunda, “a paisagem é um território fabricado e habitado” (BESSE, 2009, p.26). Seus elementos estéticos, então, perdem força e o centro da atenção passa a ser o “território produzido e pratica do pelas sociedades humanas, por motivos que são, ao mesmo tempo, econômicos, políticos e culturais” (BESSE, 2009, p. 27). Por conseguinte, também in vestigaremos como se deu a ocupação das margens do rio Carioca ao longo da história com atenção especial à favela dos Guararapes, visto que ela corresponde hoje à única região residencial que ainda coexiste com o rio in natura.
A busca então é responder às seguintes questões: quais foram os eventos políticos, econômicos e sociais que configuraram esse tipo de ocupação? Como a busca por construir uma infraestrutura de abastecimento de água para o Rio de Janeiro deixou hoje um rastro de patrimônios tombados pelo INEPAC e IPHAN (DE ALMEIDA, 2013)?
No item seguinte, o 3.2, usaremos mais uma vez o manual do Programa Monumenta para rea lizar o “Levantamento Físico” (GOMIDE, SILVA e BRAGA, 2015, p.38), o “Levantamento de Informações de Infraestrutura” (GOMIDE, SILVA e BRAGA, 2005, pg.9), o “Levantamento dos Aspectos Legais” (GOMIDE, SILVA e BRAGA, 2005, p.39) e o “Levantamento Socioeconômico-Ambiental” (GOMIDE, SILVA e BRAGA, 2005, p.39) para construir um panorama aprofundado da situação. A porta de Besse vinculada a essa lógica é aquela em que “a paisagem é o meio ambiente material e vivo das sociedades humanas” (BESSE, 2009, p.37). Besse vai chamar essa abordagem de “realista” (2009, p.39) e “sistêmica” (2009, p.43). Seu objetivo é entender como se relacionam “topografia, geologia, formações vegetais,
grupamentos animais, condições climáticas, hidro gráficas, pedológicas” (2009, p. 43) e “prédios de maneira mais ou menos densa e servindo a usos muito diversos (habitação, culto, comércio), vias de comu nicação, estradas, ferrovias, instalações agrícolas...” (2009, p. 43).

Com isso posto, construiremos no item 3.3 um diagnóstico crítico da região. Aqui teremos o iní cio da “paisagem como projeto” (BESSE, 2009, p.54), já que diretrizes mais claras dele começarão a ser esboçadas. Nesse momento entrará em cena o olhar transformador do paisagista sobre o espaço. Besse vai dizer sobre isso:
É bastante significativo, (...), que os paisagistas sejam chamados a intervir em espaços onde estão em jogo questões de limites e de extrapolação de limite, em espaços que são bordas, limiares, pas sagens, intervalos e onde, a cada vez, surge a questão de um ordenamento possível de encontro entre o urbano e o não urbano, entre o edificado e o não edificado, entre o fechado e o aberto, entre o mundo humano e o mundo natural e, talvez, mais radicalmente, entre o ‘dentro’ e o ‘fora’ (2009, p.59).
65
A história dos vestígios e das suas paisagens
O historiador brasileiro Gilson Machado de Almeida vai argumentar que a história do Rio de Janeiro pode ser reanalisada a partir da busca do que ele chama de “domesticação da água” (DE AL MEIDA, 2010, p.1). Segundo o historiador, garantir a distribuição estável de água potável teve como efeito colateral vários aspectos do desenvolvimento urbano da cidade. Por exemplo, depois da ocupação do Centro, o primeiro vetor de expansão do Rio de Janeiro foi na direção dos bairros da Glória e Cate te, justamente na direção das águas do rio Carioca. Essa interação entre sociedade e rio teria motivado a construção de diversos equipamentos de infraestrutura urbana que hoje, pela sua relevância histórica e memorial, foram tombados pelo IPHAN e INEPAC. Sendo assim, a água vira “elemento participativo na construção do patrimônio cultural do território da capital Fluminense” (DE ALMEIDA, 2013, p.2). Gilson Machado de Almeida vai, então, caracterizar a relação entre água e cidade como de: complementariedade e conflito, pois, se por um lado, a cidade precisou superar lagos, man gues e brejos para consolidar a expansão do seu território, por outro necessitou se aproximar dos mananciais para saciar a sua sede (DE ALMEIDA, 2013, p.2).

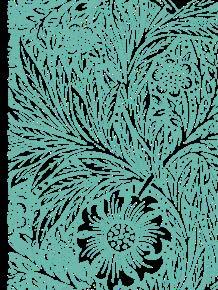

A partir do século XVIII, iniciou-se um esforço por parte do Poder Público de aproximar os pontos de acesso à água aos moradores da cidade. Então, Gilson Machado de Almeida vai afirmar que: foi construído um conjunto de aparelhos formados por: aquedutos, chafarizes, bicas públicas que em rede traziam as águas do rio Carioca para o núcleo de habitações coloniais (2013, p.4).
Foi nessa época que foi construída em 1774 a caixa Mãe d’Água (figura 78), situada na rua Almirante Alexandrino. Tratava-se de um reservatório que tinha como objetivo estabilizar o fornecimen to de água para o Centro e controlar o desvio do rio para o Aqueduto do Carioca (construído entre 1718 e 1750, hoje conhecido como Arcos da Lapa).

É importante perceber aqui a existência de um sistema de abastecimento de água que tinha no trabalho com mão de obra escravizada uma eta pa fundamental do seu processo. Esse conjunto de equipamentos de infraestrutura tinha como função levar a água até o chafariz ou bica. Quem coletava a água e capilarizava sua distribuição eram os escravizados de modo que a existência desses equipamentos não pode ser desassociada da existência de uma mão de obra escravizada.
O rio Carioca foi o primeiro a fornecer água para a cidade. Desse modo, foi também o primeiro a ser comprometido por ocupações de sua margem e atividades econômicas poluentes.
2.1.
FIGURA 78: Caixa Mãe d’Água. FONTE: acervo pessoal (mar/2022).
66
FONTE: DEBRET, 1839, p. 147.

Nessa prancha do pintor Jean-Baptiste Debret (1768 - 1848) (figura 79), já se veem os elementos marcantes dessa relação entre a nossa sociedade e o rio. Percebe-se que as primeiras ocupações da região foram de fazendas e chácaras. Serviam como locais de repouso da elite da cidade ou para a produção agrícola de cana de açúcar e, depois, café (DE ALMEIDA, 2013). Além disso, está representado também o trabalho das lavadeiras, em geral, mulheres negras e escravizadas. Esse momento marca o início da deterioração do Carioca, as fazendas co meçam a desmatar seu manancial para o plantio ou construção de vias e as próprias atividades econômicas como lavagem de roupas e animais são o es topim desse processo de degradação. Esse momento está bem registrado no livro da pintora inglesa Maria Graham (1785 - 1842) que esteve no Brasil entre 1821 e 1823:
19 de dezembro – Eu andei ao lado do cavalo de Langford em um dos pequenos vales aos pés do Corcovado: é chamado de Laranjeiros, em função do grande número de laranjeiras que crescem em ambos os lados de um riacho que as embeleza e as fertiliza. Logo na entrada desse vale, uma pequena planície verde se espraia pelos dois lados, os quais
o riacho corta com seu leito rochoso e cria um local perfeito para grupos de lavadeiras de todas as matizes, apesar do maior número delas serem negras, adicionando, ainda, um ar pitoresco à cena (GRAHAM, 1824, p.161)

Essa pintora vai realizar registros de um dos vestígios da interação entre rio Carioca e sociedade (figura 80). A Bica da Rainha foi construída no início do século XIX, ela tinha como função abastecer de água potável do rio Carioca a região do Cosme Velho e Laranjeiras. Várias lendas indígenas dão conta de poderes sobrenaturais das águas do rio: melhorariam a voz para o canto, aumentariam virilidade e curariam a anemia. Essas histórias atraíram a atenção da Dona Carlota Joaquina que recomendou o local para Dona Maria I. Ela, por sua vez, passou a frequentar essa torneira, e, desse modo, o local teria ficado conhecido como Bica da Rainha (DE ALMEIDA, 2013).
Outro pintor que representou a bica (figura 81) alguns anos depois foi o holandês Pieter Bertichen (1796 - 1866) que esteve no país de 1837 a 1856.
FIGURA 79: Les Blanchisseuses à la Rivière de Jean-Baptiste Debret; rio Carioca.
67
FIGURA 80: Laranjeiros de Maria Graham (1821 - 1823). FONTE: GRAHAM, 1824, p.163.


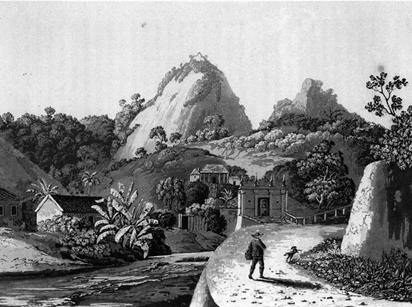
FIGURA 81: Bica da Rainha de Pieter Bertichen (1837 - 1856).
FONTE: Brasiliana Iconográfica.
Mesmo no pequeno intervalo de tempo que se passou entra essas duas representações, já se veem alterações no sítio, como a introdução de uma pequena ponte no lado esquerdo da bica. Existia também uma relação totalmente diferente com relação aos níveis, havendo antigamente até uma pequena subida, vencida com escadaria, para se acessar a bica. Hoje ela se encontra enterrada e com acesso restrito por uma grade como vimos no capítulo primeiro. Vale a pena aqui resgatar sua imagem atual (figura 82).
FIGURA 82: Bica da Rainha atualmente. FONTE: acervo pessoal (jun/2022).

68
O que causou a transformação intensa desse espaço foi a rápida expansão urbana do Rio de Janeiro entre a segunda metade do século XIX e o início do século XX. O fotógrafo brasileiro Augusto Malta (1864 – 1957) vai documentar essas mudanças urbanas através de seus retratos. Como era fotógrafo oficial do então Distrito Federal, estava bem posiciona do para realizar esses registros históricos.
FIGURA 83: Foto da rua Conde de Baependi sem data de Augusto Malta.
FONTE:Brasiliana Fotográfica.
A foto da rua Conde de Baependi (figura 83) mostra como antes da criação de galerias subterrâneas o que ocorreu foi sua canalização a céu aberto que, por sua vez, teria acontecido entre as décadas de 1840 e 1850 (SCHLEE; CAVALCANTI; TAMMINGA, 2007).

A rapidez dessas transformações urbanas despertou a resistência em espacial do que ficou conhecido como Romantismo no Brasil. O quadro A Carioca (figura 84) do pintor brasileiro Pedro Américo (1843 - 1905) que foi apresentado à Exposição Geral da Academia Imperial de Belas Artes em 1864 (OLIVEIRA, 2013) e o poema Confederação dos Tamoios publicado em 1856 do escritor e poeta Gonçalves Magalhães (1811 - 1882) mostram como o rio Carioca foi


representado aqui em um contexto de idealização nacionalista, no caso da pintura, e melancolia nostálgica, no caso do poema. Em ambas as situações, vê-se um movimento contrário a lógica de urbani zação da época que tinha como grande objetivo uma modernização higienista do espaço (DE ALMEIDA, 2013).
FIGURA 84: A Carioca de Pedro Américo.
FONTE: Enciclopédia Itaú Cultural.
69
O Corcovado píncaro ventoso, Doce e manso desliza-se o Carioca, A cujas margens minha mãe cantava Tão mestos cantos, qu’eu chorando ouvia, E ainda choro co’a lembrança delles.
Quantas vezes naquella escura várzea, Onde o Catète saltitante corre, Ouvindo o sabiá e o gaturamo, Dormi, sonhei, aromas respirando Co’aquelles ares puros que dão vida! (MAGALHÃES, 1856, p.18)
E onde? brada Aimbiré acceso em ira, Como si o inferno lhe estourasse n’alma: E onde, estulto velho, onde acharemos O céo de Nitheroy? As férteis plagas Do nosso Parahyba? E as doces águas Do saudoso Carioca, que suavizam Dos cantores a voz melodiosa?

Tudo deixar? ... Fugir? ... Mas tu deliras! Fugir? ... Que Curupira malfazejo Inspirou-te tão baixos pensamentos? (MAGALHÃES, 1856, p.121)
Não foi apenas no Brasil que o rápido desenvolvimento urbano trouxe desconforto para alguns. A postura de John Ruskin também está vinculada ao pensamento romântico. Como já foi dito, foi o rápido desenvolvimento urbano da Inglaterra durante o século XIX que motivou seu pensamento e o trabalho de todos aqueles situados no Arts & Crafts. É possível estabelecer também um nexo entre Gilles Clément e o Romantismo uma vez que seus jardins se aproximam do jardim pitoresco inglês (MONTANER,2008). Temos então um movimento artístico inteiro calcado na reação às transformações sociais e culturais do século XIX e que teve forte tração tanto na Londres de Ruskin quanto no Rio de Janeiro de Pedro Américo e Gonçalves Magalhães. Mais que isso, esse movimento, apesar de não ter consegui-
do conter o ímpeto modernizante dessas gerações, continua a influenciar o pensamento contemporâneo (como no caso de Clément) sofrendo adaptações que o colocam mais em linha com os dramas do pre sente, sendo aproximado de um discurso ecológico.
Todavia, o conservacionismo romântico não foi capaz de conter o discurso modernizante higienista. Ao longo dos anos, o processo de ocupação urbana dessa área vai se acelerar, principalmente a partir de 1870 com a introdução do sistema de bondes. A ele se somou:
A abertura dos eixos transversais de circu lação viária para a ligação entre as zonas norte e sul da cidade. O corte dos morros Azul e Mundo Novo, entre as décadas de 1910 e 1920, a execução do aterro da orla da baía para implantação do Parque do Fla mengo ao longo do anel viário formado por vias expressas entre as décadas de 1950 e 1960 e a abertura dos túneis Santa Bárbara e Rebouças entre a década de 1960 e 1970 (SCHLEE, NETTO, TAMMINGA, 2006, p.37).
Esse aumento da infraestrutura viária fun cionou como “indutores do adensamento construtivo” (SCHLEE, NETTO, TAMMINGA, 2006, p.37). Os edifícios da arquitetura formal se verticalizaram e a ocupação informal se consolidou (favela do Guararapes, Cerro Corá e Vila Cândido). É nesse momento que o sentido existencial do rio Carioca sofre uma substancial transformação: antes ele era fonte de água potável para a cidade e, portanto, deveria ser preservado; agora, não mais fornece água, tornou-se obsoleto, sua função para a cidade passa a ser a de transportar esgoto. É essa alteração na maneira de se ver o rio que vai justificar o seu enterramento, sua subtração da paisagem, representada nas fotos do Augusto Malta (figura 85 e 86).
70
FIGURA 85: rua Conde de Baependi sendo canalizada, foto de 04/09/1905, Augusto Malta.


FONTE: Brasiliana Fotográfica.
Essa sequência de fotos ilustra o desaparecimento do rio. Ele é removido da paisagem e pode ser caracterizado como fragmentado. Não existe mais continuidade quando adentramos o tecido urbano. Os únicos elementos restantes são seus vestígios que irrompem esporadicamente na paisagem. No Cosme Velho, existe maior densidade desses vestígios: o Reservatório do Carioca, a Piscininha do Silvestre, o Reservatório do Morro do Inglês, a Bica da Rainha e outros. Mas, quando descemos seguindo esse percurso agora invisível do rio, cruzamos Laranjeiras, Catete e Flamengo sem nenhum indício da sua existência.
Para se encontrar um local onde a sociedade se relaciona com o rio aberto ao ar livre e contínuo, deve-se ir à favela do Guararapes. No capítulo primeiro, vimos através das figuras 34 à 46 como se dá essa relação entre a comunidade e corpo d’água hoje. Segundo a tese Favela dos Guararapes: Uma Narrativa de Resistência e Luta pela Permanência da professora, doutora e assistente social Beatriz Fartes de Paula (2020), o rio Carioca vai funcionar como uma
FIGURA 86: rua Conde de Baependi, foto de 25/07/1906, Augusto Malta.
FONTE: Brasiliana Fotográfica.
FIGURA 87: rua Conde de Baependi, mesmo ângulo da anterior.
FONTE: Google Street View.

barreira geográfica para a favela. Seu surgimento se deu nas três primeiras décadas do século XX a partir de ocupações da fazenda de Laranjeiras de propriedade do Coronel Fontainha. Eram ocupações de caráter temporário de famílias dos funcionários dessa fazenda. Tendo sido vendida e subdividida, essas famílias se viram obrigadas a sair do local e passaram

71
a construir suas moradas na outra margem do rio (que foi onde a comunidade veio a se desenvolver até os dias de hoje) (DE PAULA, 2020).

Hoje em dia, a margem antes ocupada por essas famílias que deram origem à favela é onde se encontram as ruas Conselheiro Lampreia e Professor Mauriti Santos que possuem atualmente imóveis de alto valor imobiliário (DE PAULA, 2020) (figura 88).
casas do lado oposto ao Carioca. De Paula vai argu mentar que “o rio Carioca exercia uma barreira natural de separação dessas duas áreas, enquanto na margem direita do rio, observava a expansão imobi liária, do outra lado do rio, víamos a expansão gradativa do processo de favelização da área” (DE PAULA, 2020, p. 69). Para ela, o que justificaria tal estreita mento seria que “mesmo tão próximas, a favela dos Guararapes se fazia presente em um terreno de alta declividade e de difícil acesso, desviando a cobiça do mercado imobiliário.” (DE PAULA, 2020, p.69).

Com o tempo, os barracos na margem do rio Carioca começaram a se multiplicar com a vinda de famílias de Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo em busca de trabalho ou ainda moradores da própria cidade que não mais conseguiam arcar com os custos de aluguel dos cortiços. A relação estabelecida logo no início da formação da comunidade: pessoas que se instalam ali para suprir a demanda de trabalho oferecida pelos moradores da parte mais rica do bairro e seus arredores marca a história do Guararapes e perdura até os dias de hoje.
No final da década de 70, os barracos, que ainda eram de madeira, foram substituídos pelos de alvenaria. Enquanto o Guararapes crescia, observou-se também o crescimento na construção de
Por conseguinte, o rio Carioca é um elemento urbanístico fundamental tanto na história da formação da comunidade como na maneira em que ela está inserida no tecido urbano hoje. São seus moradores que frequentam em maior número a Piscininha do Silvestre e o Reservatório do Carioca. Eles que garantem que os caminhos existentes permaneçam varridos das folhas que caem das árvores. Era através do Programa Conservando Rios da Prefeitura que esses moradores se organizavam para garantir a limpeza do leito do Carioca. Desse modo, esse trabalho deve sobretudo conferir especial atenção a como a favela do Guararapes se relaciona tanto com o rio quanto com os vestígios da sua interação com a sociedade.
FIGURA 88: rua Conselheiro Lampreia. FONTE: Google Street View.
72
2.2 Cartografando em Três Escalas

A partir de agora, serão apresentados alguns dados considerados relevantes sobre os vestígios da interação entre rio Carioca e a sociedade. Para isso, foram consideradas escalas diferentes de análise.




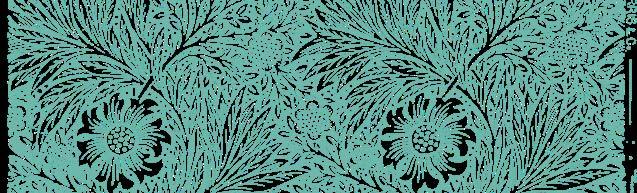
Na primeira, toda a extensão do rio no cenário urbano será analisada. Esse olhar transversal busca encarar os vestígios como parte de um sistema mais amplo que tem repercussões e é afetado por elementos urbanos paralelos ao eixo definido pelo rio Carioca. Nesta escala, estaremos preocupados em entender as características dos bairros que o Carioca atravessa, como o relevo criou as condições para a sua existência e de seus afluentes, como se dá a relação entre cobertura vegetal e área urbana nessa região e como questões de mobilidade conectam ou desconectam esses bairros.
FIGURA 89: Mapa de localização do projeto. FONTE: elaborado pelo autor.
Já na segunda escala, o foco será concentra do no bairro Cosme Velho. Essa escolha se dá a partir da constatação, indicada no primeiro capítulo, de que os vestígios da relação entre sociedade e o rio Carioca se concentram nesse bairro. As exceções à essa observação seriam apenas a Banheira do Imperador que está situada no bairro de Santa Teresa e a foz do rio Carioca que se encontra no Flamengo. Portanto, o Cosme Velho passa a ser o centro da intervenção que será proposta neste trabalho e, desse modo, deve ser estudado com maior minúcia.
A terceira e última escala será uma análise de uma das áreas do Cosme Velho que será escolhida para um aprofundamento da proposta de interven ção. Aqui será importante uma aproximação real do chão. Cartografar esse espaço a partir de observações em visitas ao local e conversas com moradores e visitantes.



73
FIGURA 90: Mapa dos bairros, rio Carioca e seus afluentes
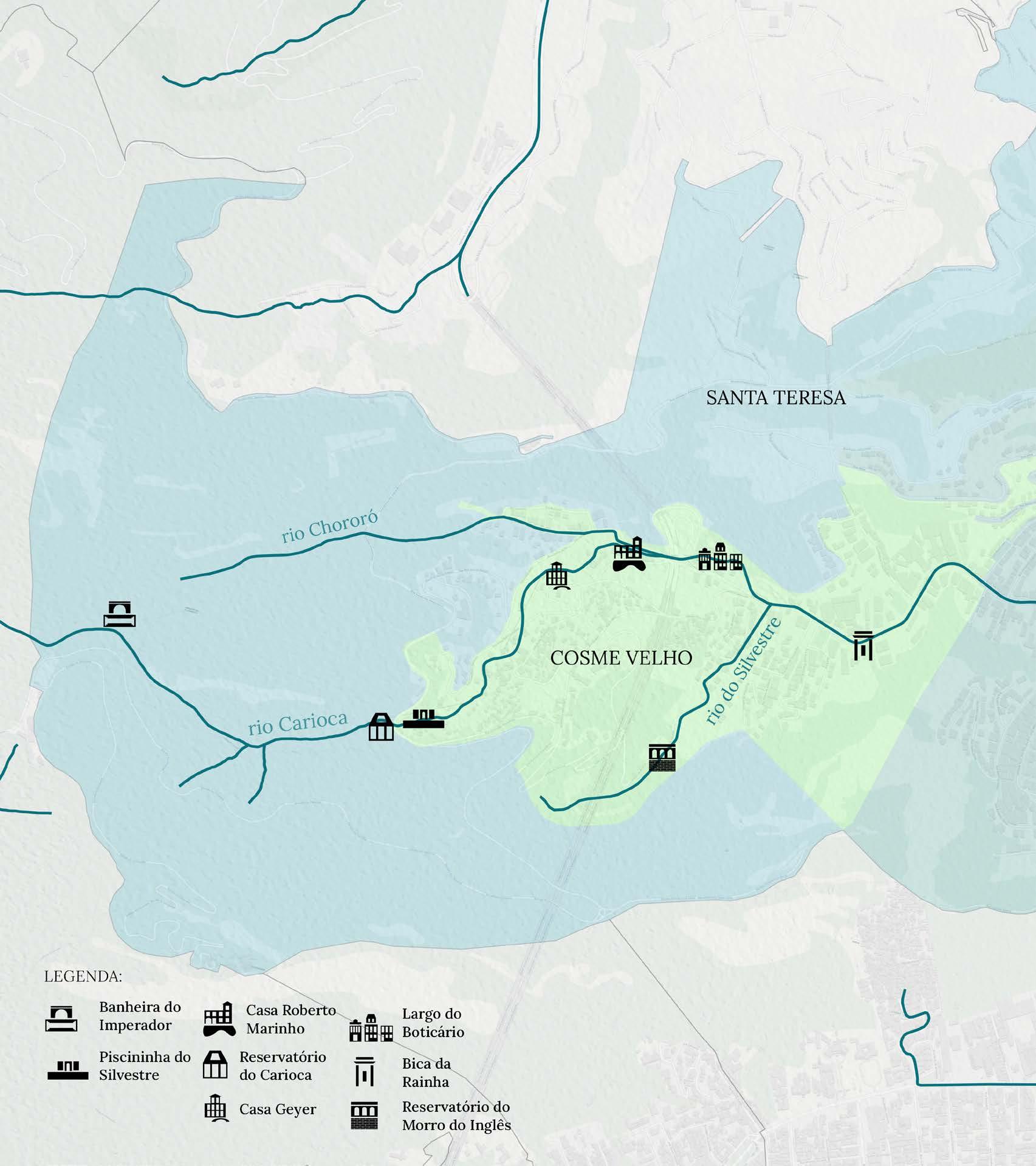
elaborado pelo autor com dados do DATARIO.

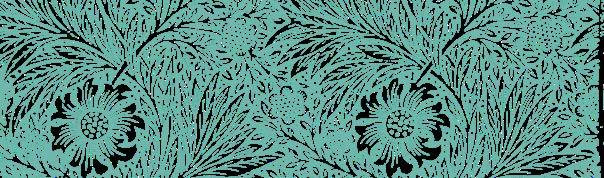
74
. FONTE:
Neste mapa, pode-se per ceber que o rio Carioca cruza realmente os bairros de Santa Teresa, Cosme Velho, Laranjeiras Flamengo, onde se situa sua foz. Oficialmente, o Reservatório do Carioca se encontra em Santa Te resa, todavia, foi constatado em conversas realizadas no local que
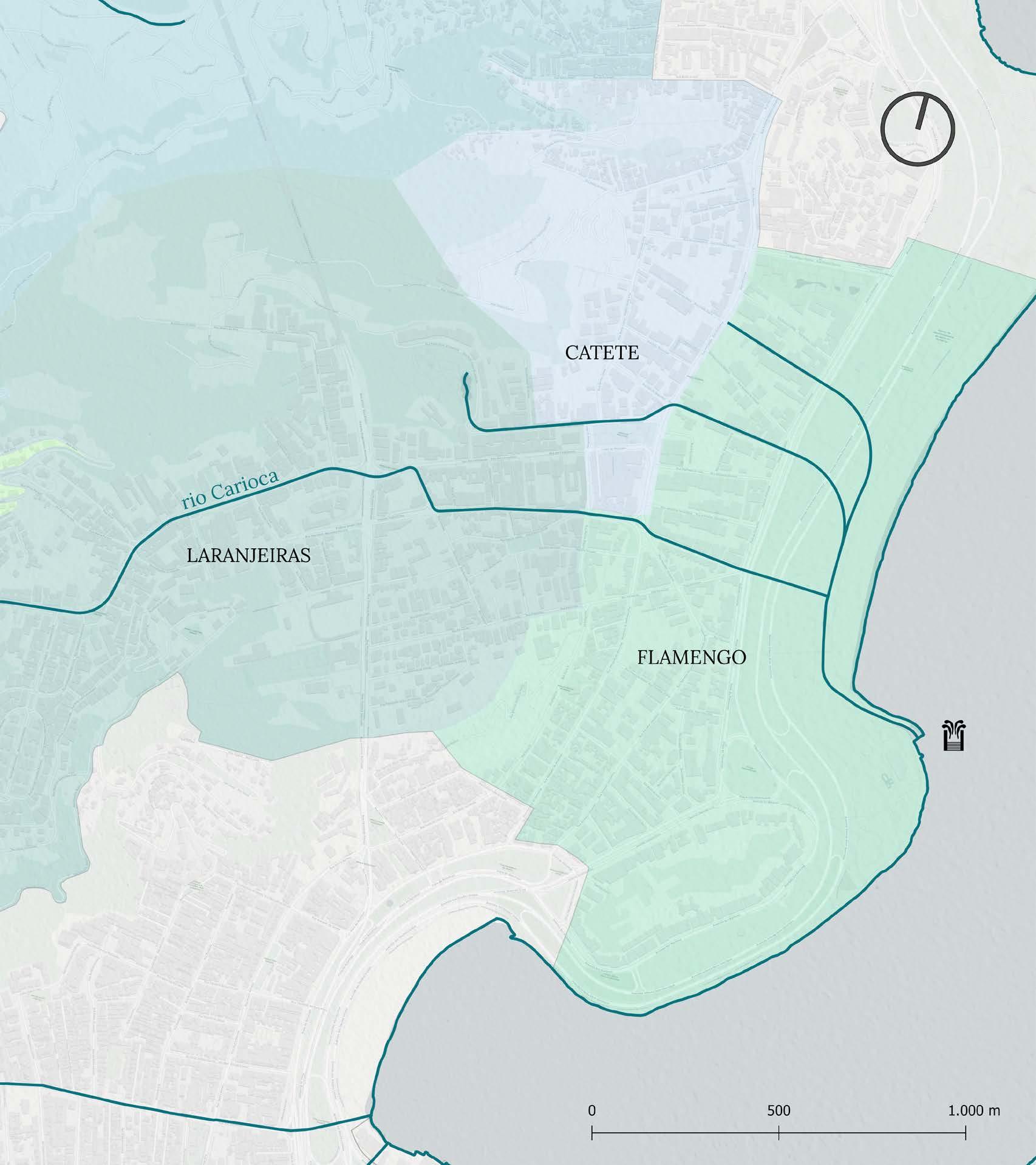
esse elemento é entendido pelos moradores como parte do Cosme Velho.
Por isso, este trabalho referencia o reservatório como parte do segundo bairro, mesmo que formalmente ele esteja em Santa Teresa.
ESCALA
1:10.000 75
FIGURA 91: Mapa de hidrografia e relevo.
FONTE: elaborado pelo autor com dados do DATARIO.
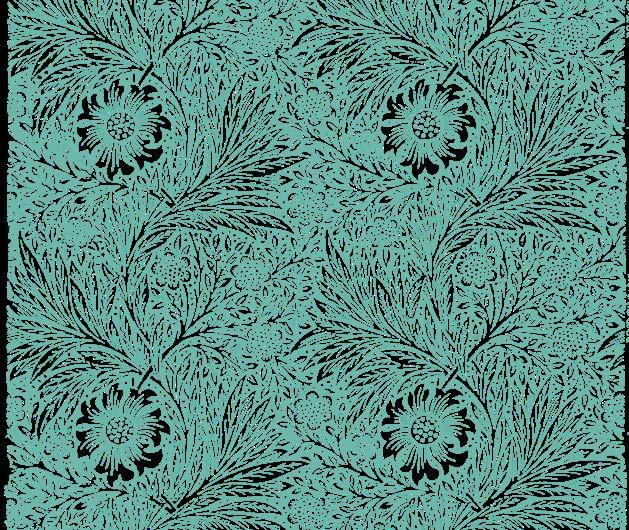
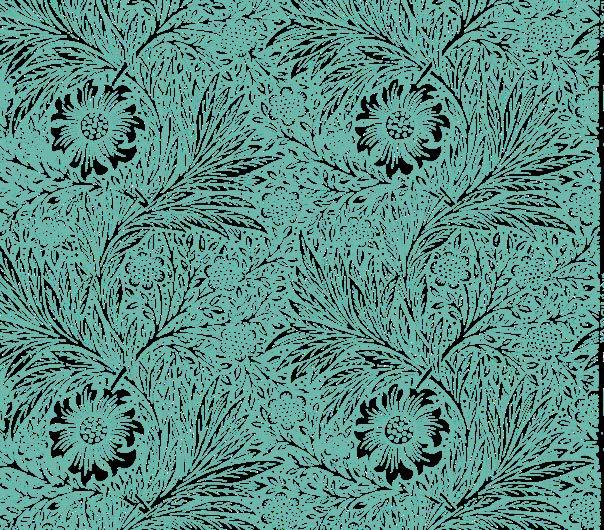
O Mapa de hidrografia e relevo revela como os três talvegues naturais do Cosme Velho criam as condições para a existência do rio Carioca, do rio Chororó e do rio Silvestre. Estes dois últimos, ainda nesse bairro, se juntam ao Carioca e escoam em direção ao mar, atravessando o vale onde se encontram os bairros de Laranjeiras e Flamengo.
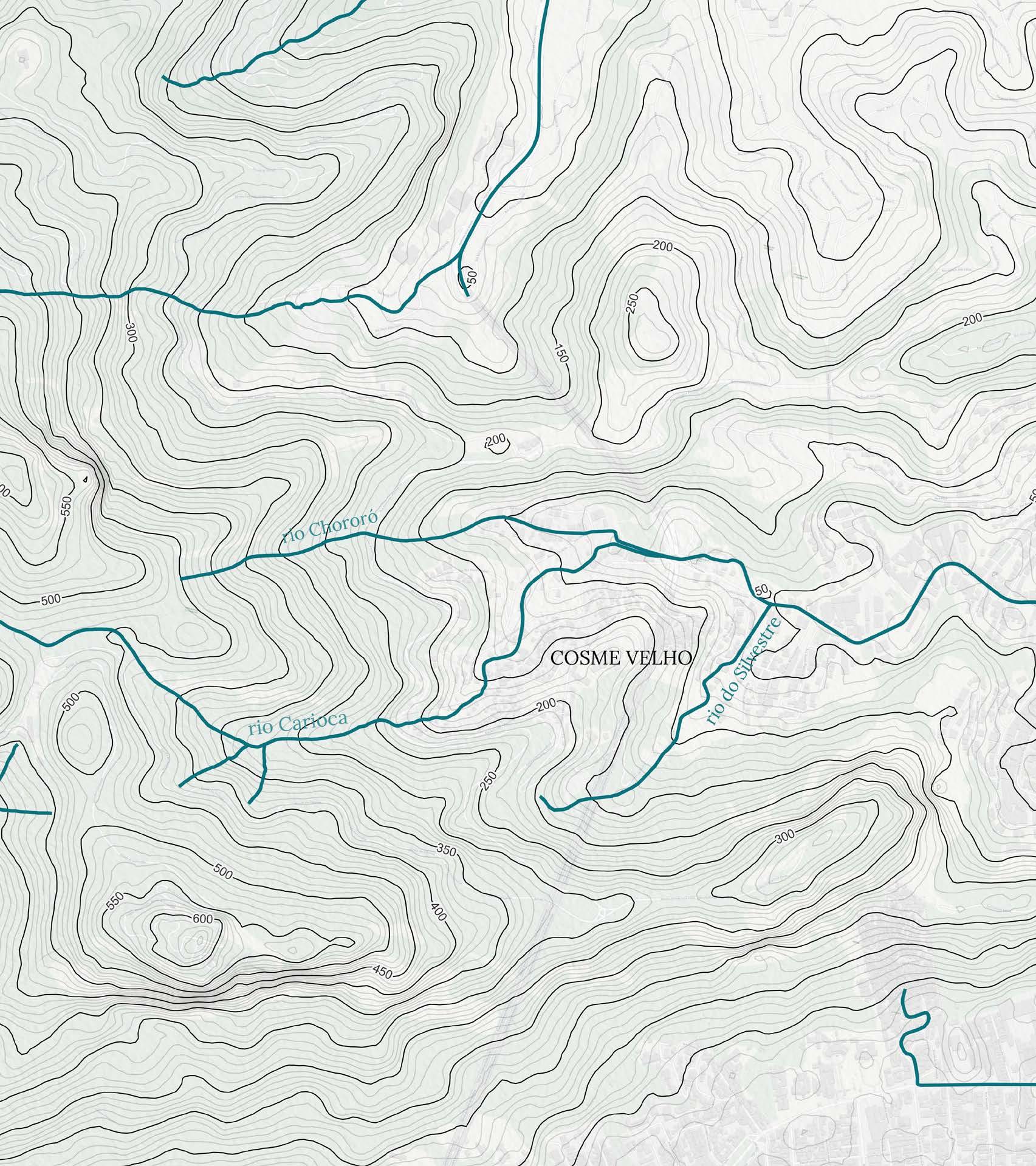
76
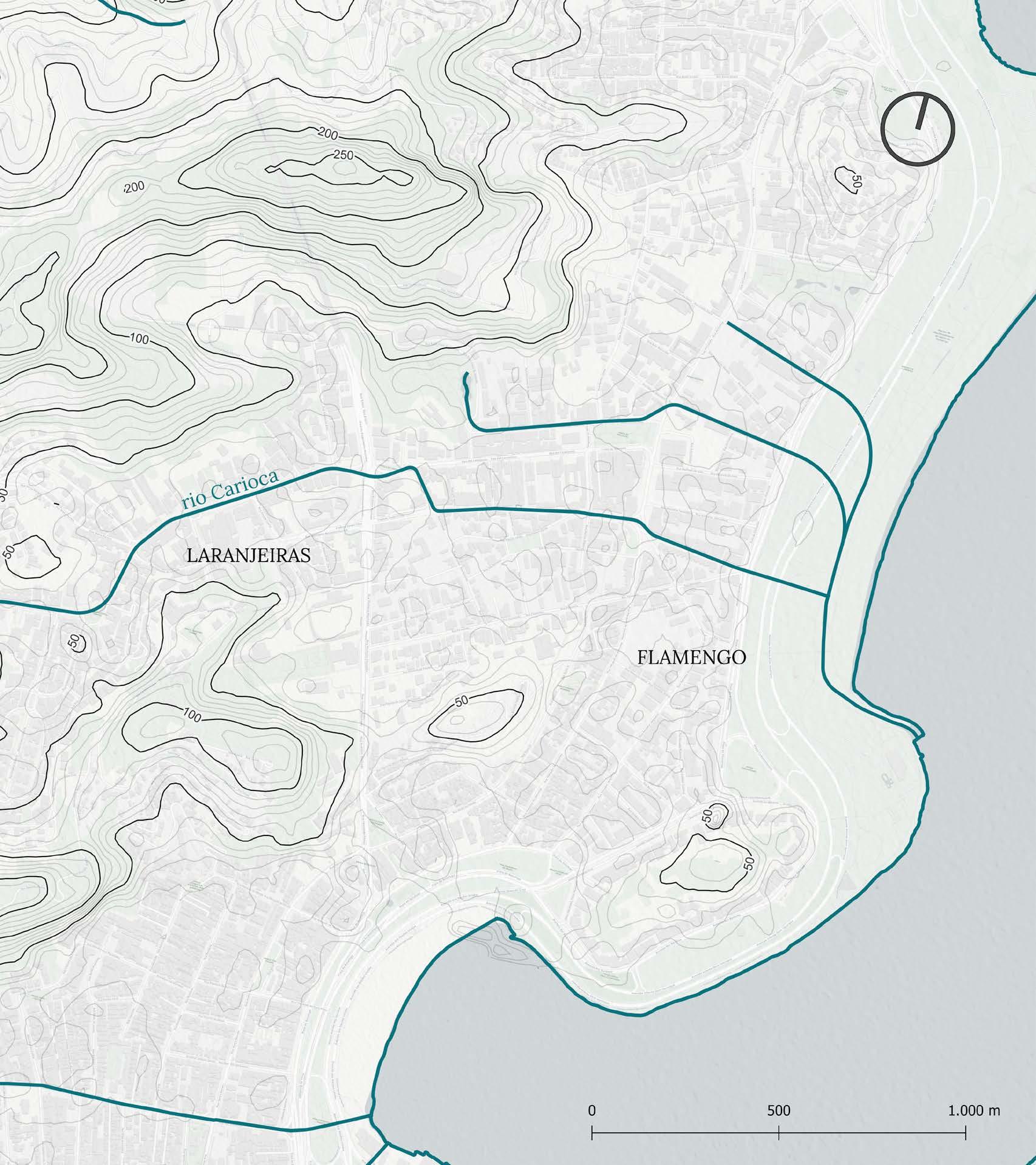
ESCALA 1:10.000 77
FIGURA 92: Mapa de tipo de cobertura no tecido urbano. FONTE: elaborado pelo autor com dados do DATARIO.
Esse mapa mostra a progressiva urbanização na medida em que se avança pelo rio Carioca; fato esse já constatado no primeiro capítulo. O Cosme Velho pode ser caracterizado como um bairro de margem urbana. Possui, portanto, um tecido fragmentado entre área urbana e cobertura vegetal.



78
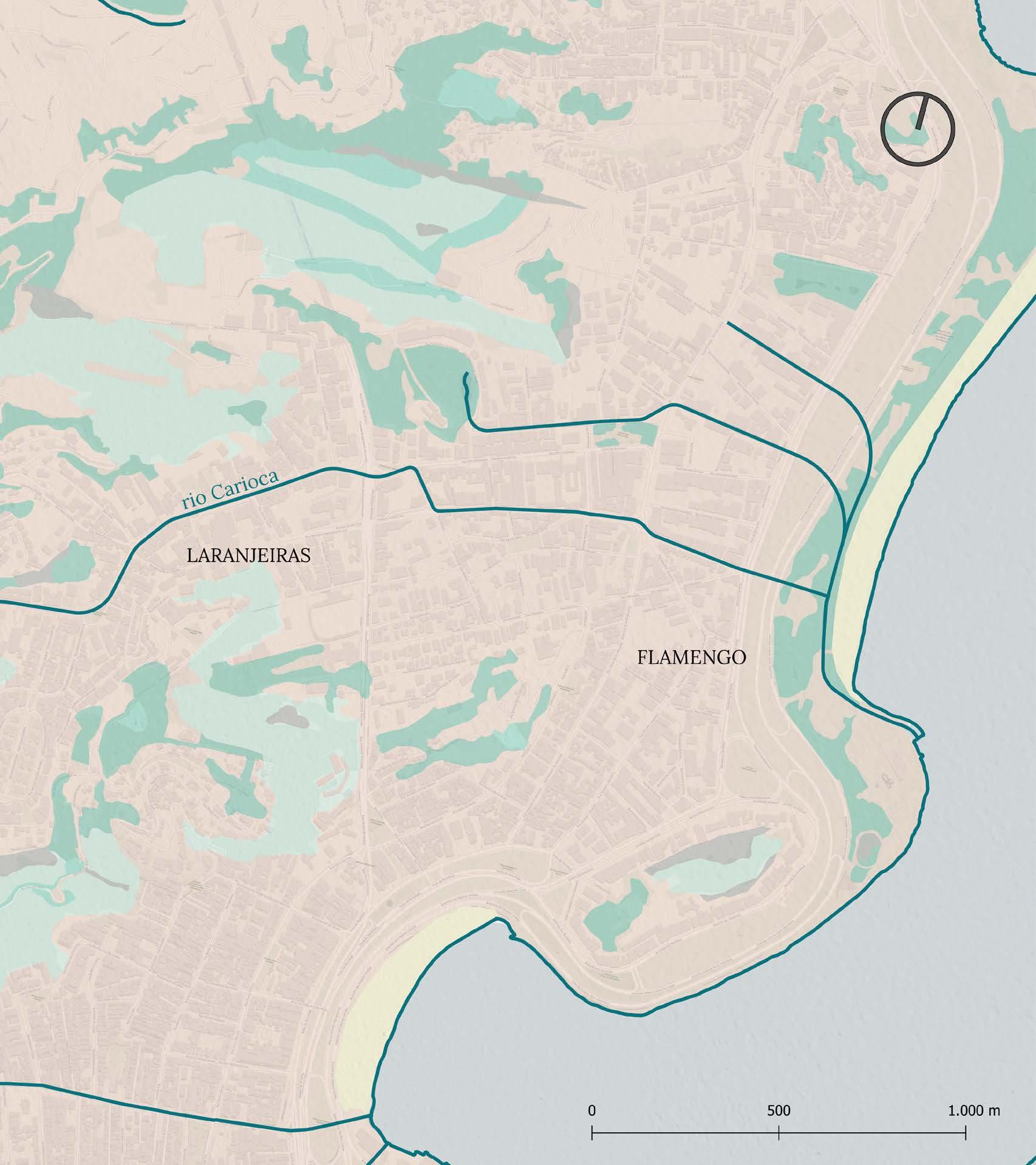
ESCALA 1:10.000 79
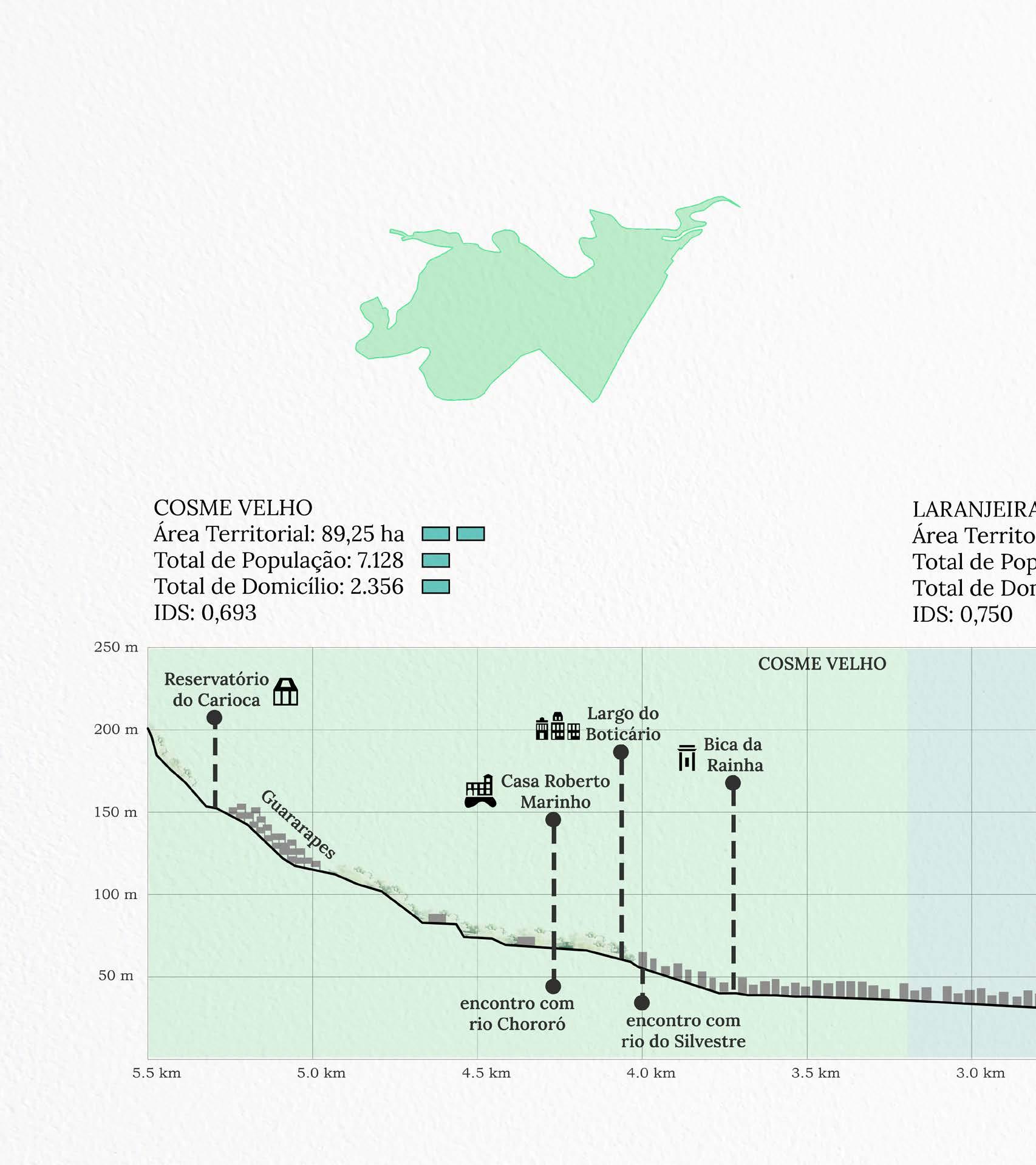
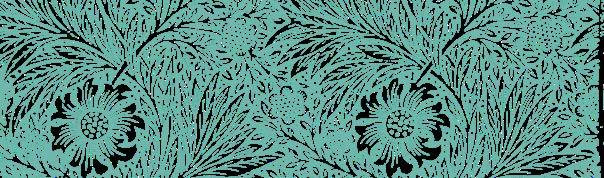

FIGURA 93: Corte esquemático com rio Carioca. FONTE: elaborado pelo autor com dados do DATARIO. 80
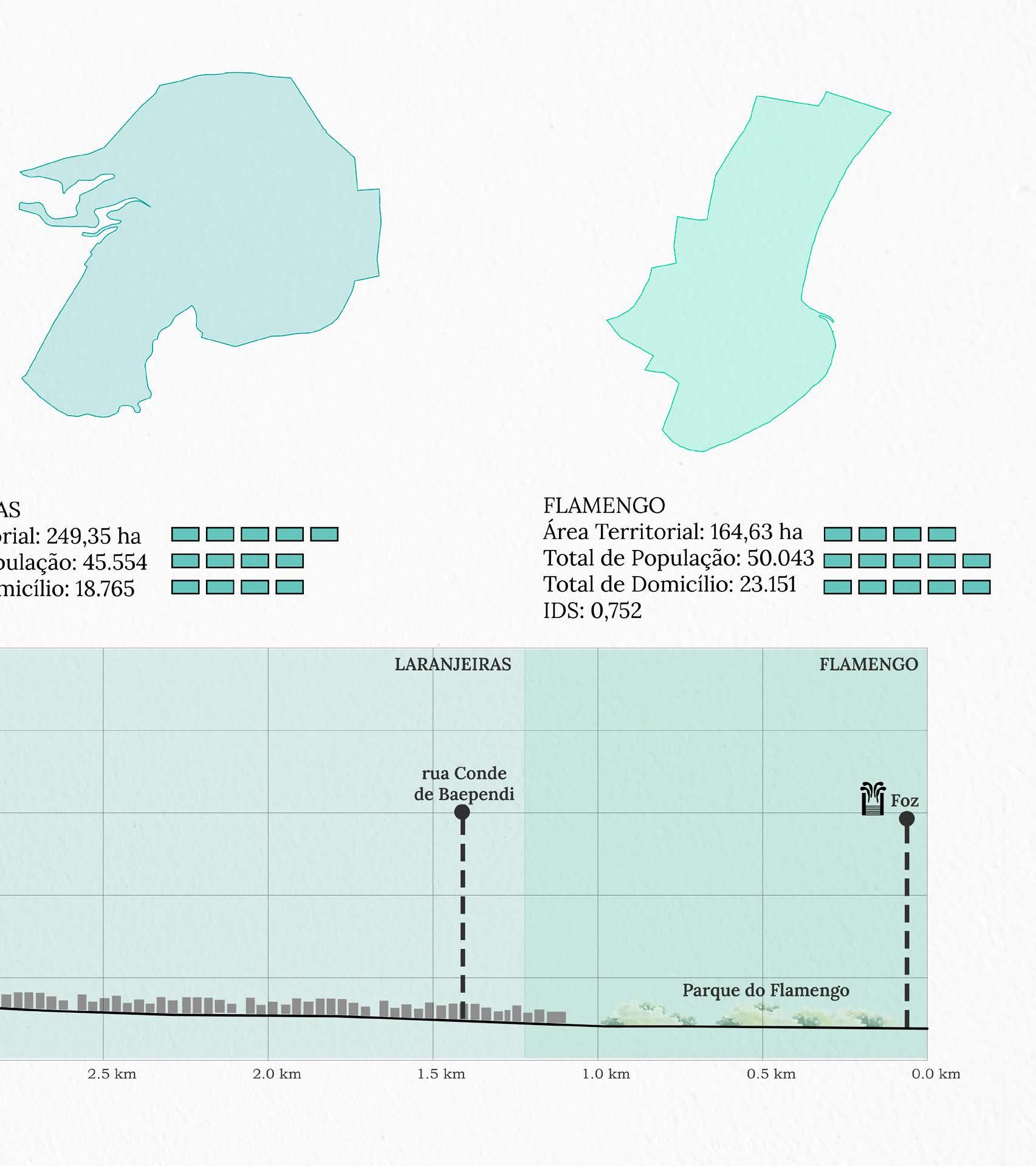
81
FIGURA 94: Mapa de mobilidade em torno do rio Carioca.

FONTE: elaborado pelo autor com dados do DATARIO.

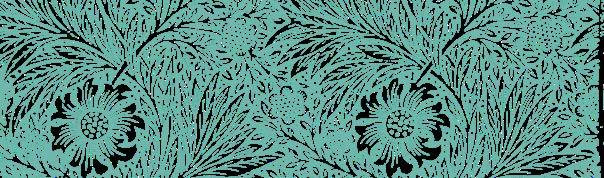
82
O mapa de mobilidade revela a ausência de um modal de grande fluxo para o tronco viário (caracterizado pelas ruas que pas sam exatamente por cima do rio Carioca) que interioriza esse fluxo para Laranjeiras e, depois, Cos me Velho. Atualmente, o ônibus é a solução de mobilidade para esse deslocamento.

No Cosme Velho, tem-se a presença da Estrada de Ferro do Corcovado, um modal de uso turístico que transporta pessoas para o Cristo Redentor. Observa-se, então nesse ponto uma aglomeração desse tipo de público.
ESCALA 1:10.000
83
FIGURA 95: Mapa de relevo e drenagem do Cosme Velho. FONTE: elaborado pelo autor com dados do DATARIO.
Esse mapa mostra com mais detalhes os talvegues que formam os três rios do Cosme Velho. Além disso, localiza as quatro comunidades que existem no bairro: Guararapes, Vila Cândido, Vila Imaculada Conceição e Cerro Corá. Percebe-se como o rio Carioca funciona como verdadeira barreira geográfica para a primeira des sas comunidades, separando-a do tecido urbano formal que existe na outra margem.
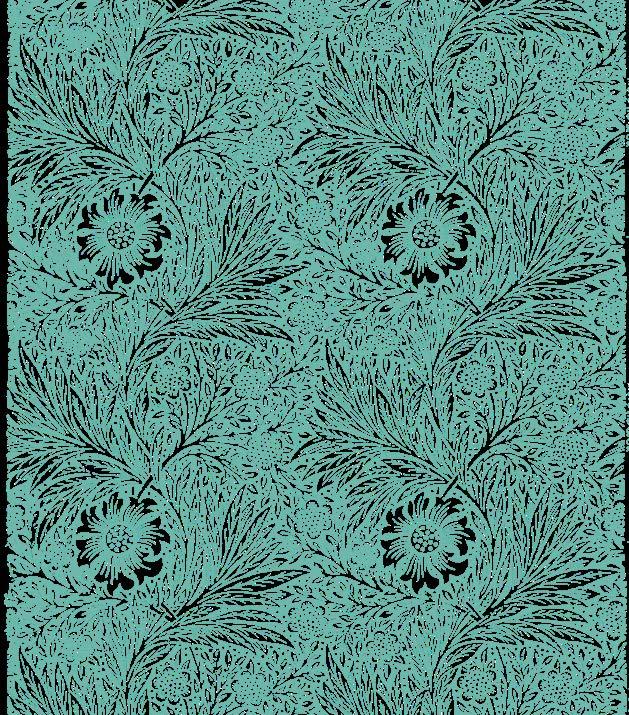
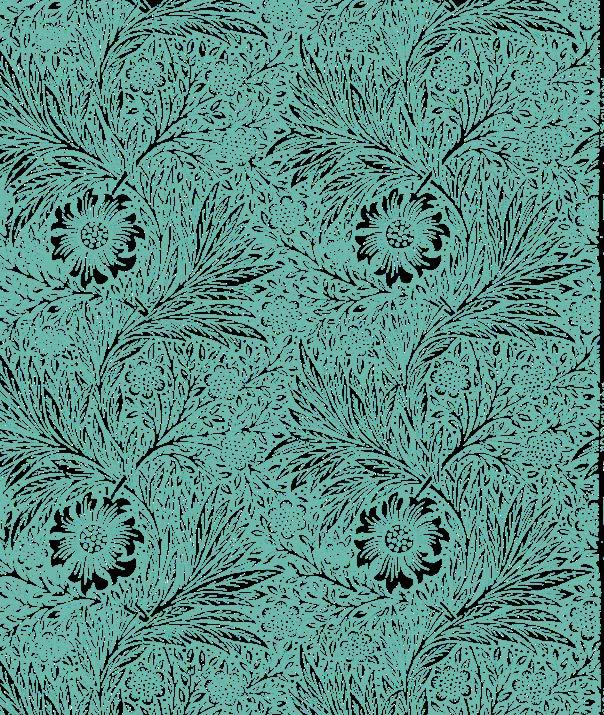
Aqui, podemos constatar certas características socioeconômicas atribuídas a esse espaço. Enquanto as comunidades ocupam regiões mais íngremes, o tecido formal ocupa as áreas de relevo mais suave.
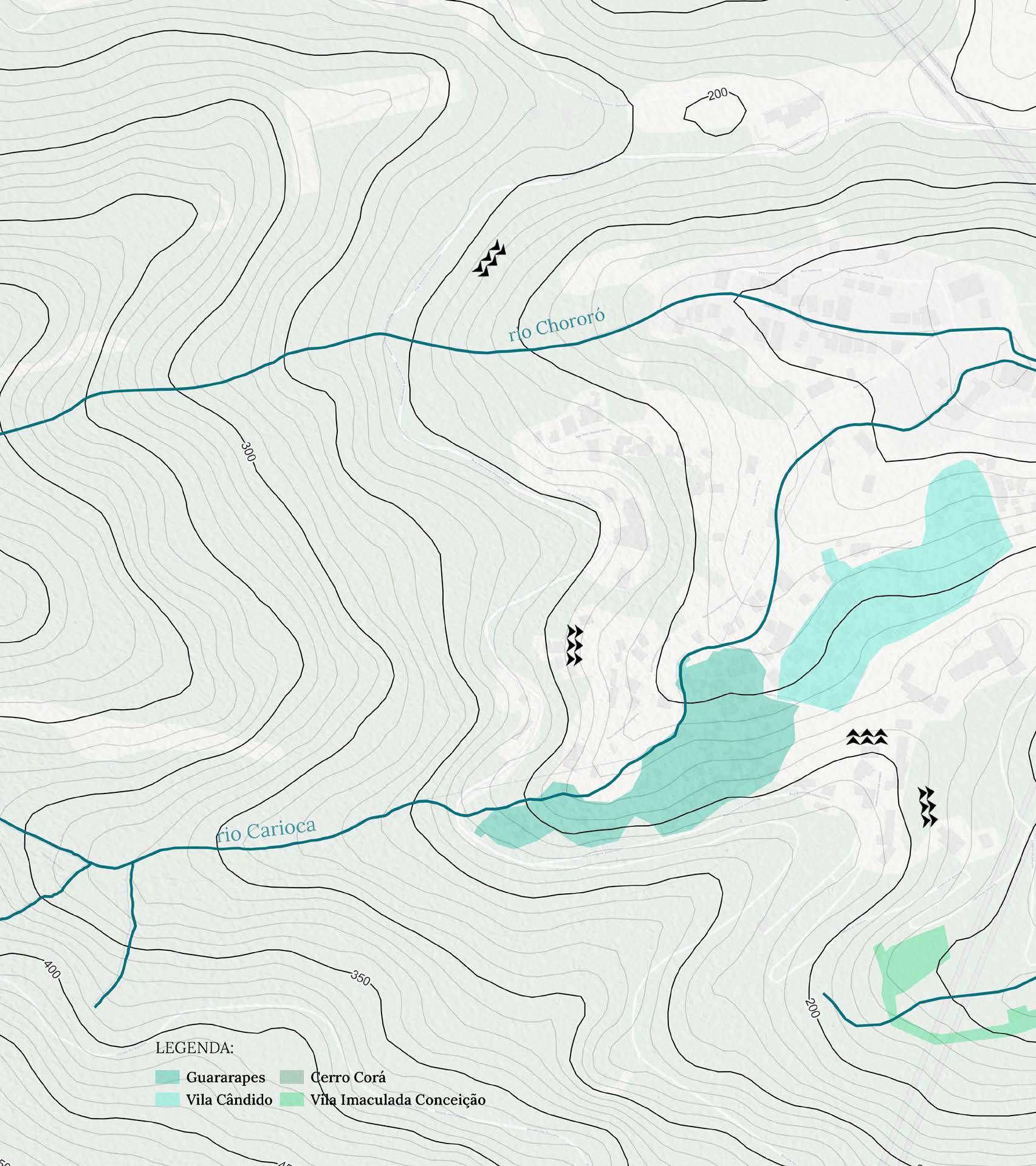
84
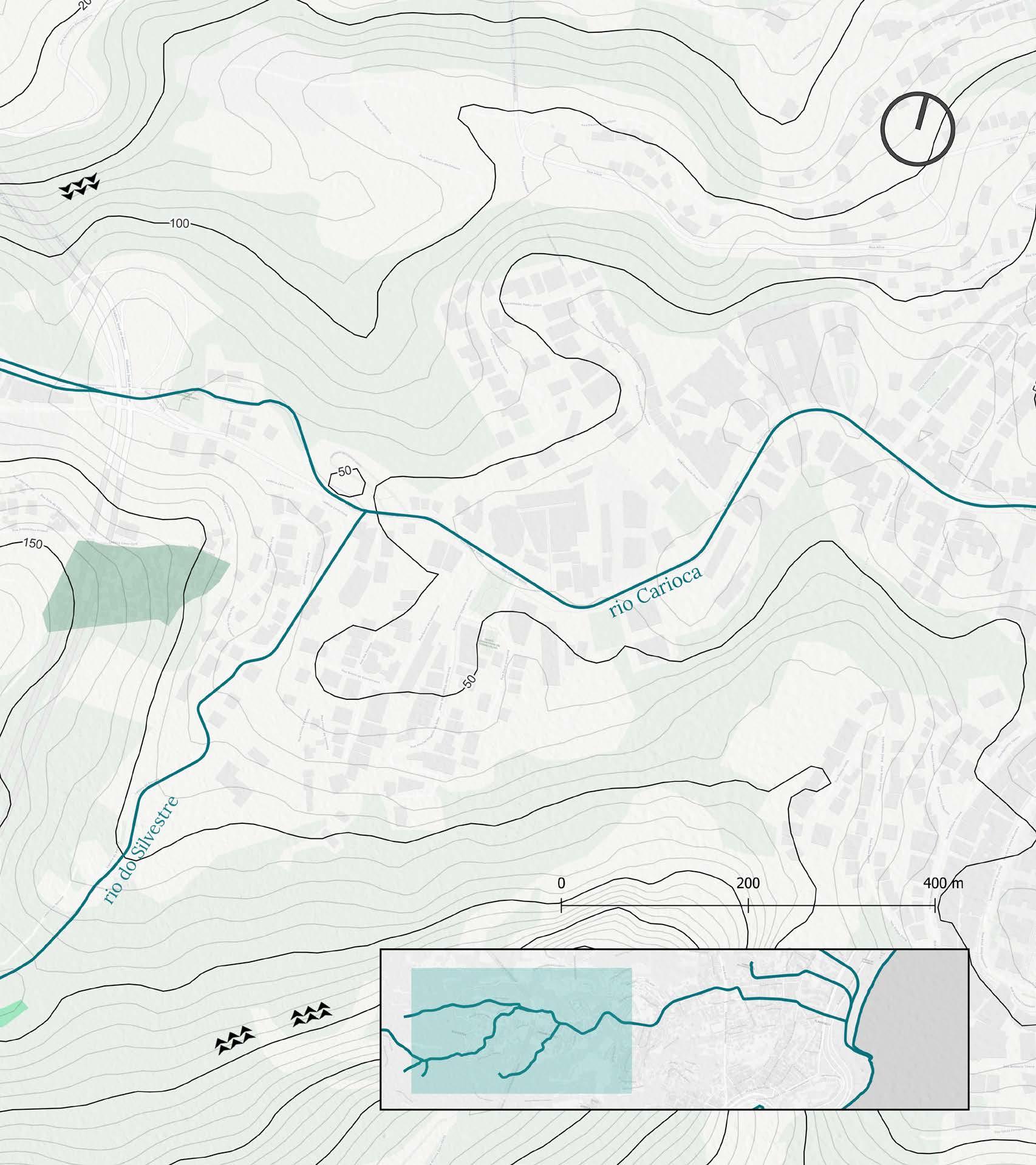
ESCALA 1:4.000 85


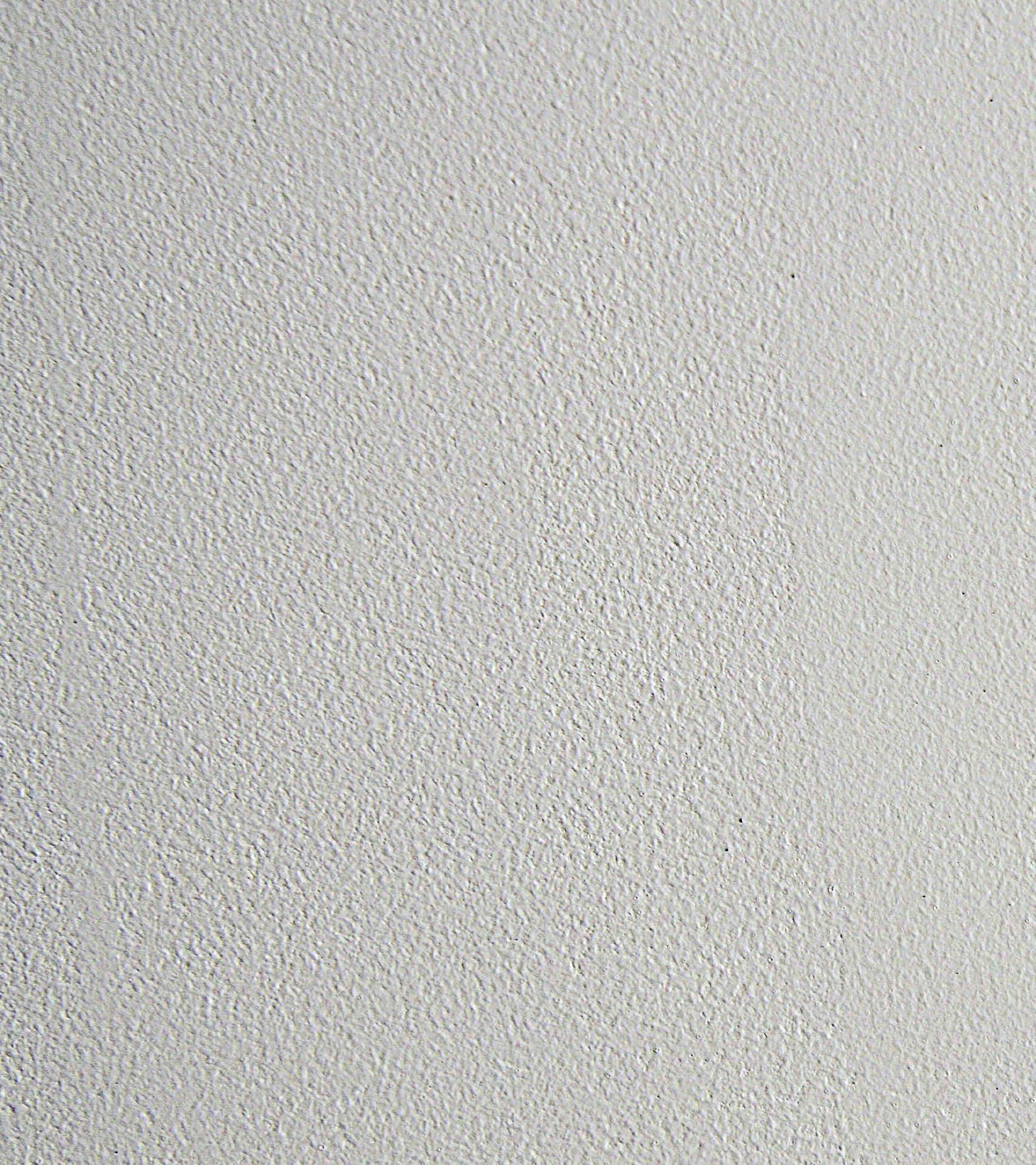
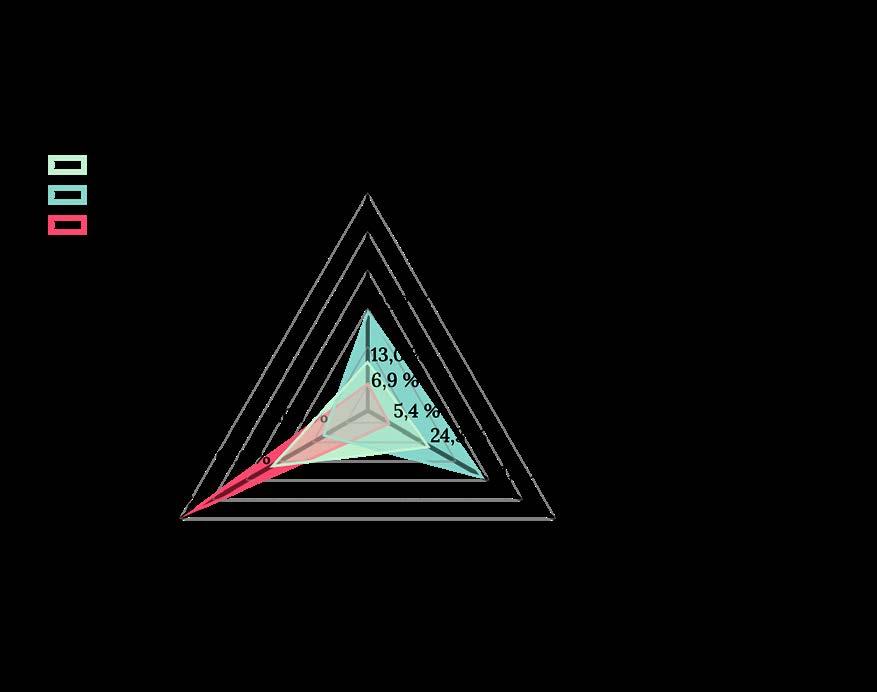

FIGURA 101: Mapa de renda no Cosme Velho. FONTE: elaborado pelo autor com dados do Censo 2010.

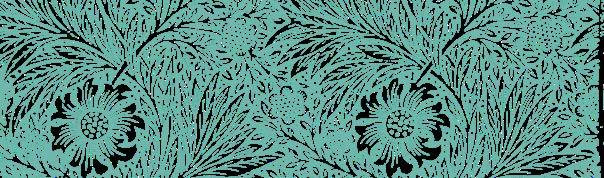
Nesse mapa, percebe-se mais uma vez o aspecto socioeconômico da segregação descrita no bairro. Quando olhamos o caso específico do Guararapes, pode-se dizer que o rio Carioca não corresponde apenas a uma barreira geográfica entre a comunidade e a rua Conselheiro Lampreia. Trata-se, também, de uma barreira socioeconômica e racial.
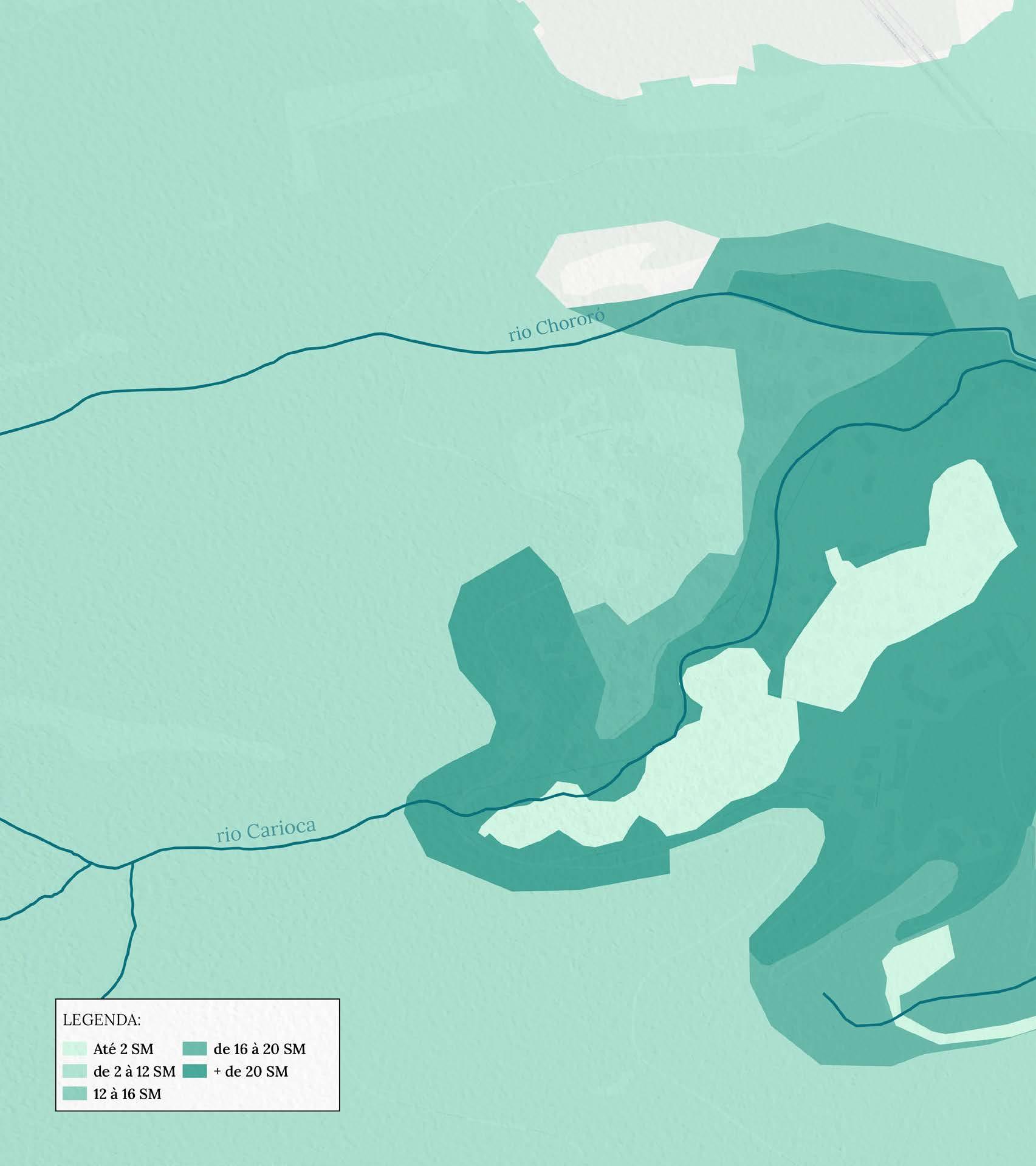
88
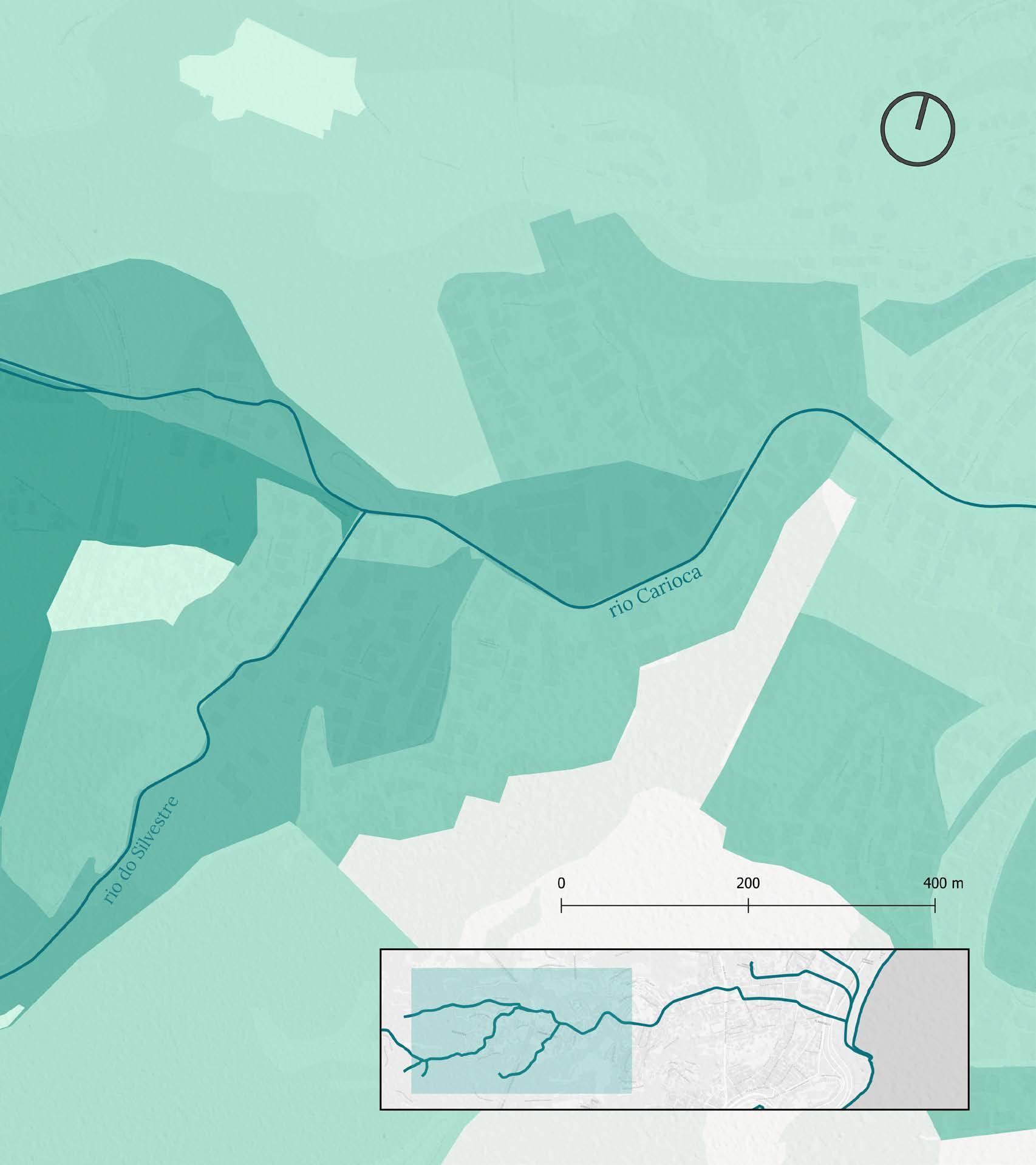
ESCALA 1:4.000 89
FIGURA 102: Mapa de gabaritos no Cosme Velho.
FONTE: elaborado pelo autor com dados do DATARIO.

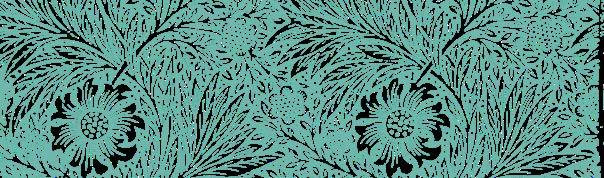
O mapa de gabaritos permite a observação de como existe uma perda na altura dos edifícios na medida em que se adentra o Cosme Velho. O que pode ser observado ao se caminhar é a transição de prédios para residências unifamiliares.
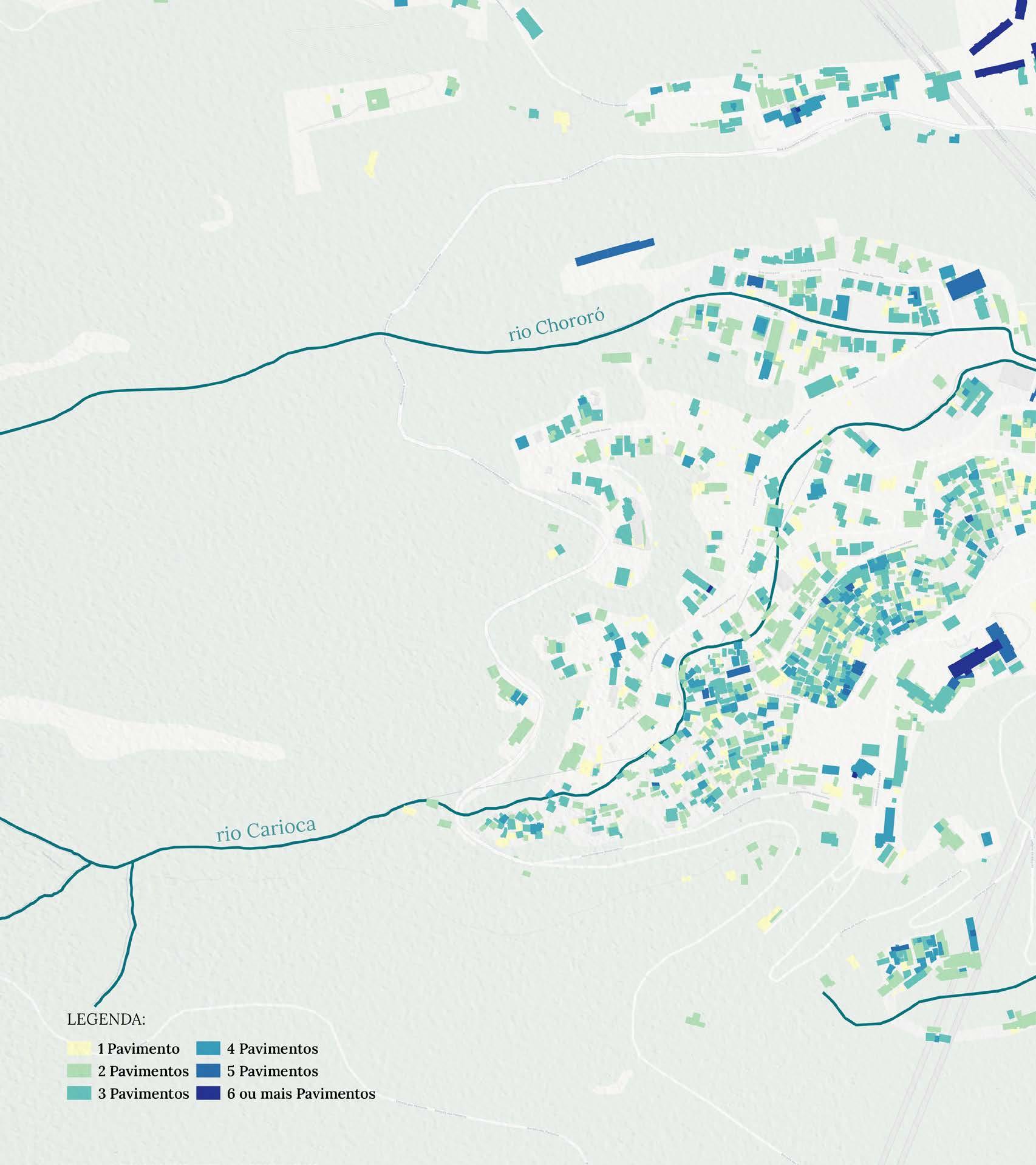
90
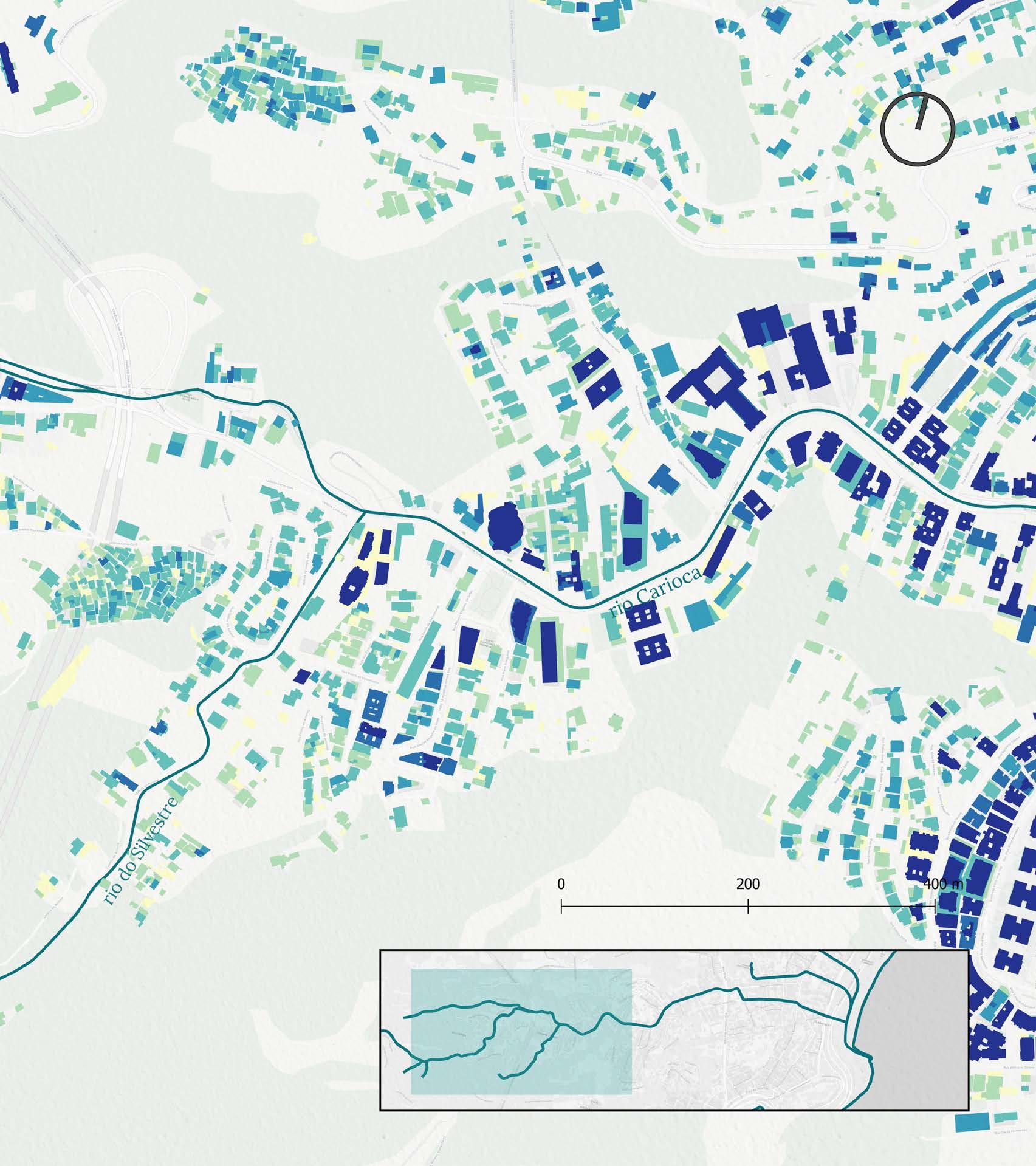
ESCALA 1:4.000 91
FIGURA 103: Mapa de hierarquia viária no Cosme Velho. FONTE: elaborado pelo autor com dados do DATARIO.
Quando se observa o mapa de hierarquia de vias, percebe-se que a maioria dos elementos vinculados ao rio Carioca (exceção é o Reservatório do Morro do Inglês que se encontra na ladeira do Ascurra) está em uma mesma sequência de vias coletoras: rua Cosme Velho, rua Prof. Mauriti Santos e rua Almirante Alexandrino.

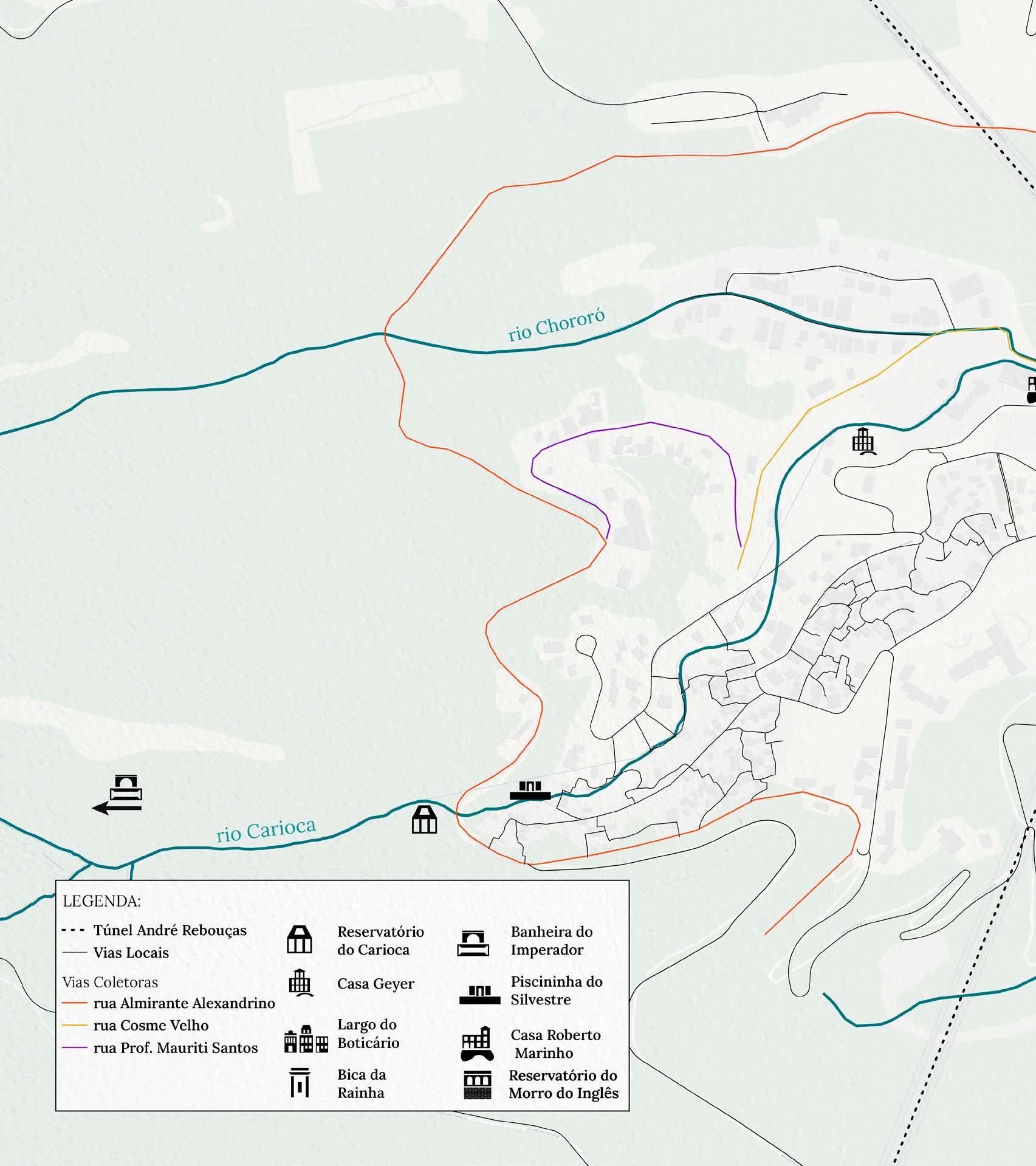
Essa sequência é rompida bruscamente pelo viaduto do túnel André Rebouças que acaba interrompendo a transição harmônica do bairro e dividindo-o em duas partes.
FIGURA 104: Diagrama de sistema viário. FONTE: elaborado pelo autor.


92
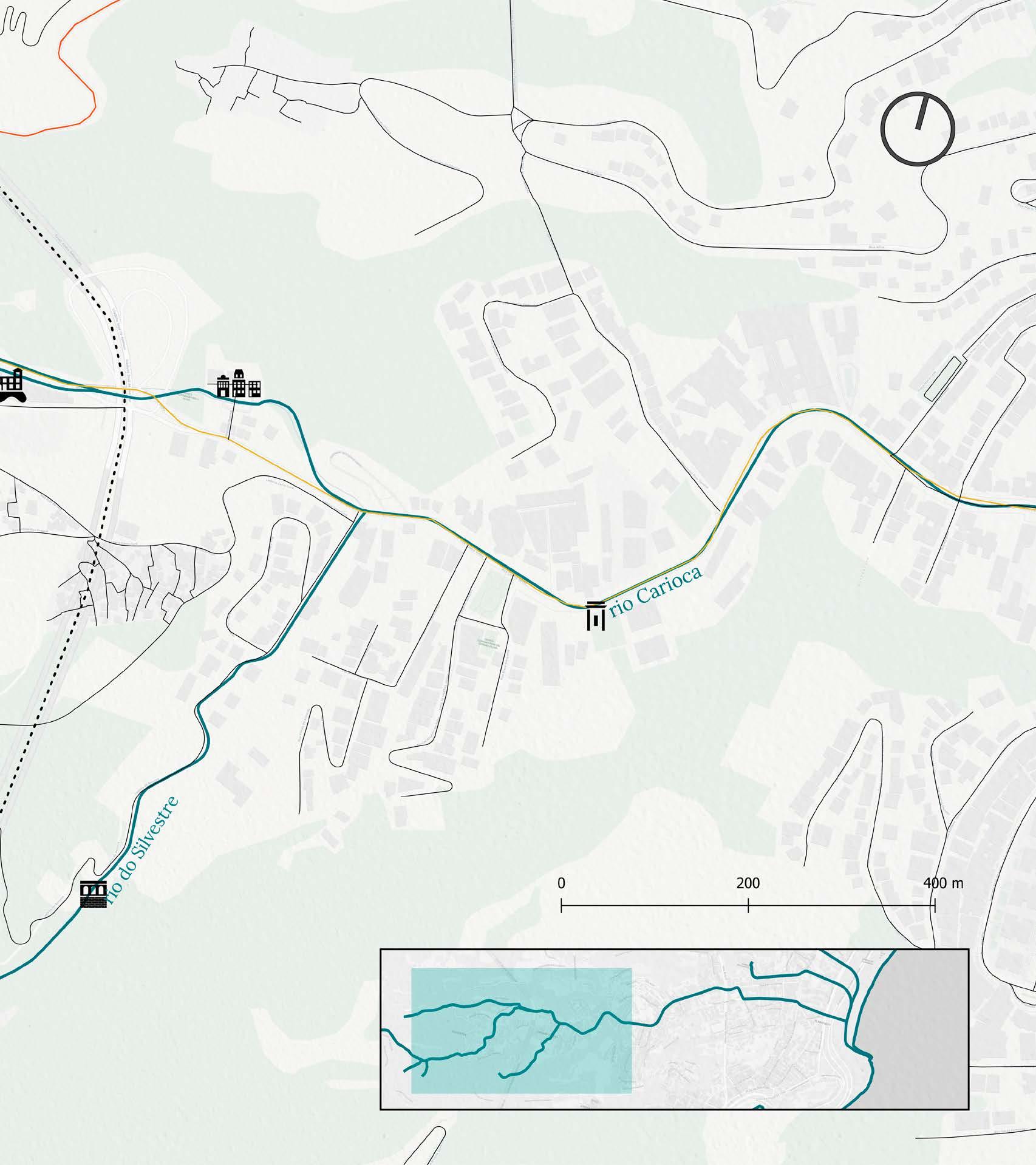
ESCALA 1:4.000 93
FIGURA 105: Mapa de mobilidade no Cosme Velho. FONTE: elaborado pelo autor.
Ao se observar o mapa de mobilidade do Cosme Velho, pode-se confirmar o fato do transporte por meio de ônibus ser a principal forma de locomoção pública para as pessoas que habitam o bairro. Quando se nota o caso particular da comunidade do Guararapes, percebe-se que os únicos pontos de ônibus próximos são aqueles da rua Almirante Alexandrino. Essa informação é corroborada pela tese da professora Beatriz Fartes de Paula:

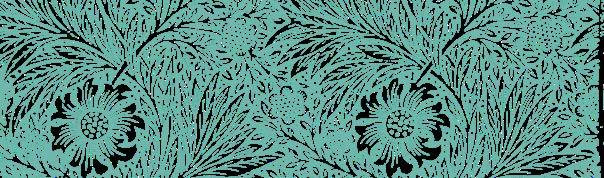
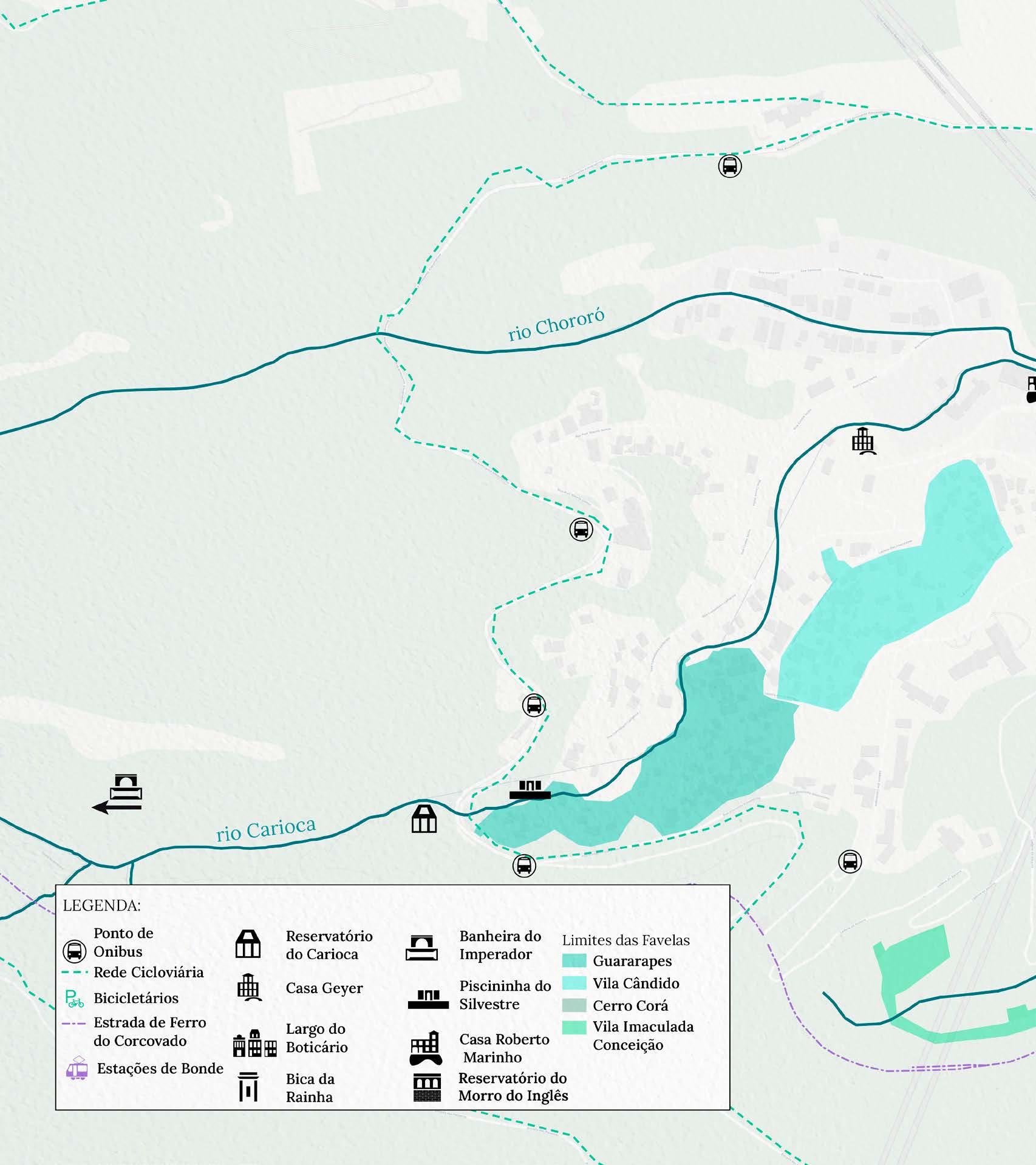
A sugestão dos moradores foi a de utilização de micro-ônibus para circular pe las ruas estreitas e com curvas fechadas de Santa Teresa e das Ladeiras Ascurra e Guararapes.
A sugestão do transporte foi acolhida e, ainda hoje, o transporte público se faz com a uti lização de micro-ônibus, mas
94
nenhuma linha passa nas ladeiras sinalizadas, apenas na Rua Almirante Alexandrino. (DE PAULA, 2013, p.72)
Almirante Alexandrino. Conec tar essas duas ciclovias pode ter efeito positivo na circulação pelo bairro.
Outra característica importante é a existência de duas ciclovias desconexas no bairro: uma na rua Cosme Velho e outra na rua
ESCALA 1:4.000

95
FIGURA 106: Mapa de zoneamento no Cosme Velho.
FONTE: elaborado pelo autor com dados do DATARIO.

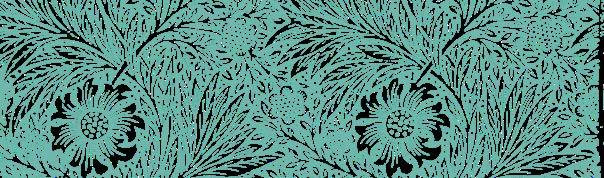
O mapa de zoneamento no Cosme Velho indica que boa parte da região mais elevada do bairro se encontra em Zona Especial 1 (ZE-1), definida pela área acima da cota de 100m. Essa lei (1.322/1976) determina que a área seja Non Aedificandi. Possivelmente, esse é um dos motivos para a existência de tantos terrenos baldios na rua Conselheiro Lampreia.
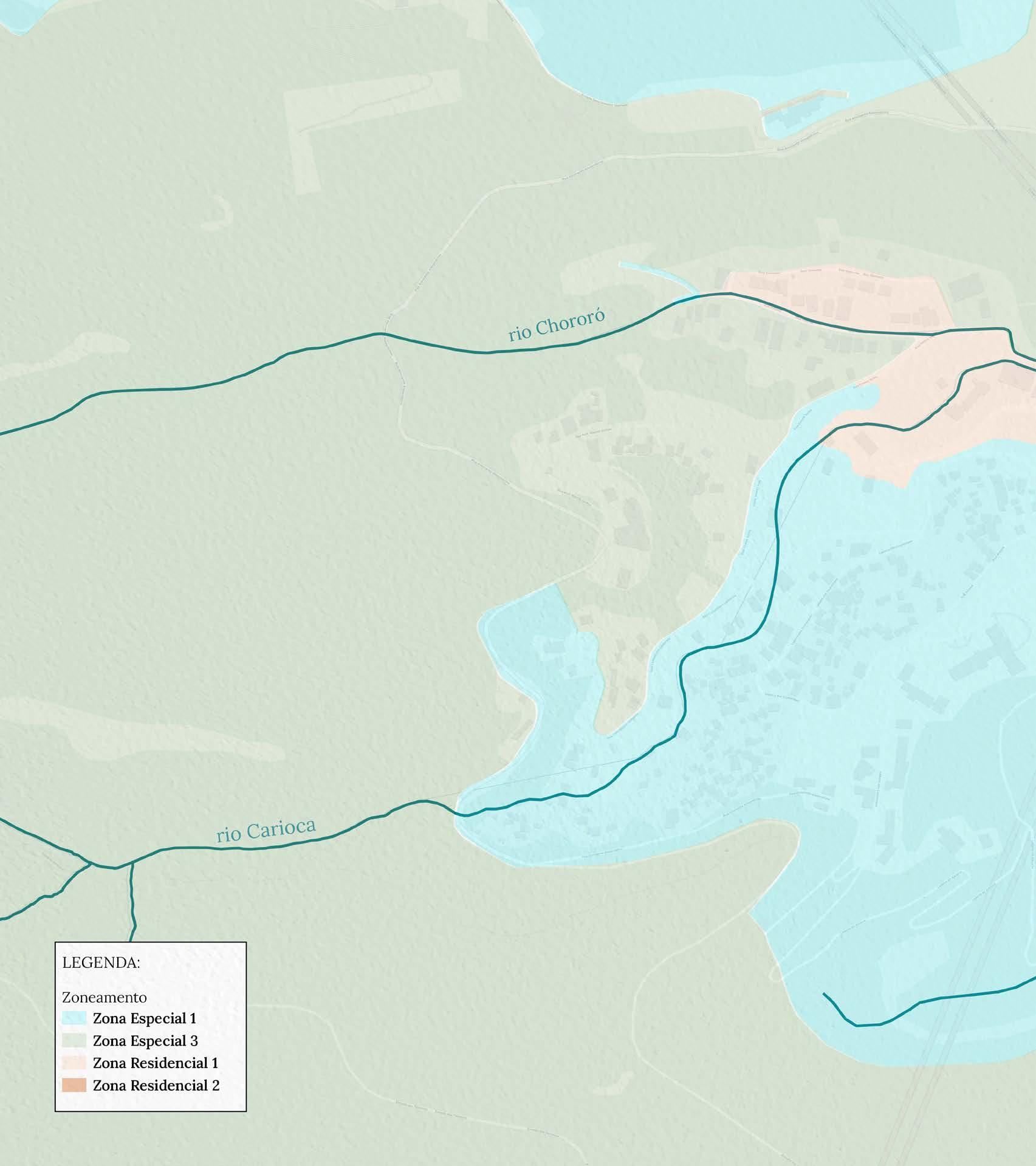
96

ESCALA 1:4.000 97
LEGAIS

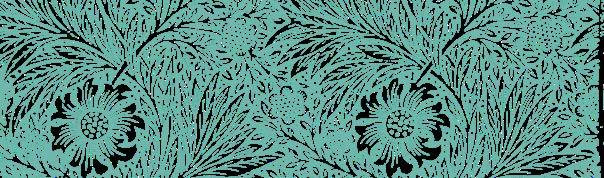
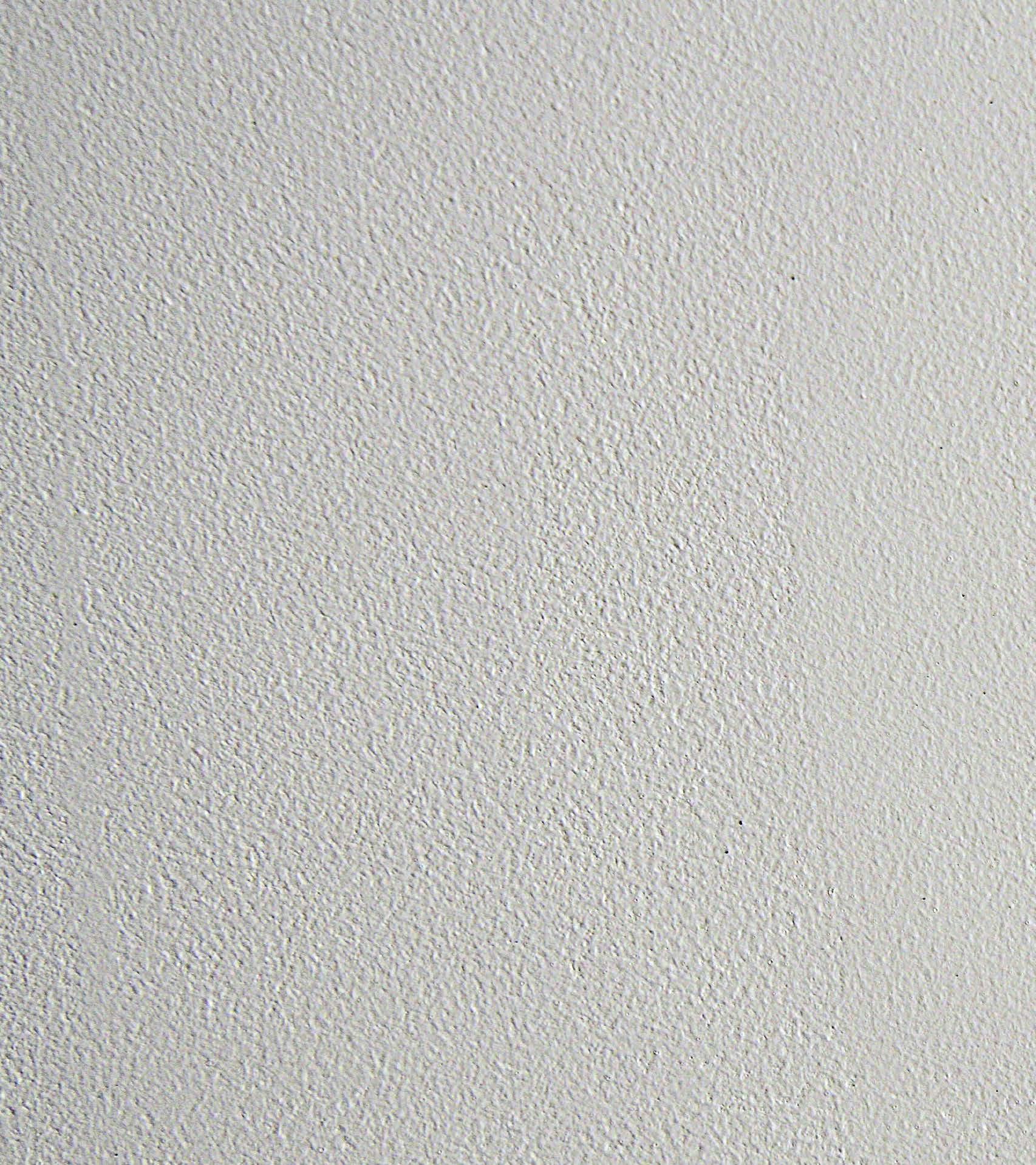
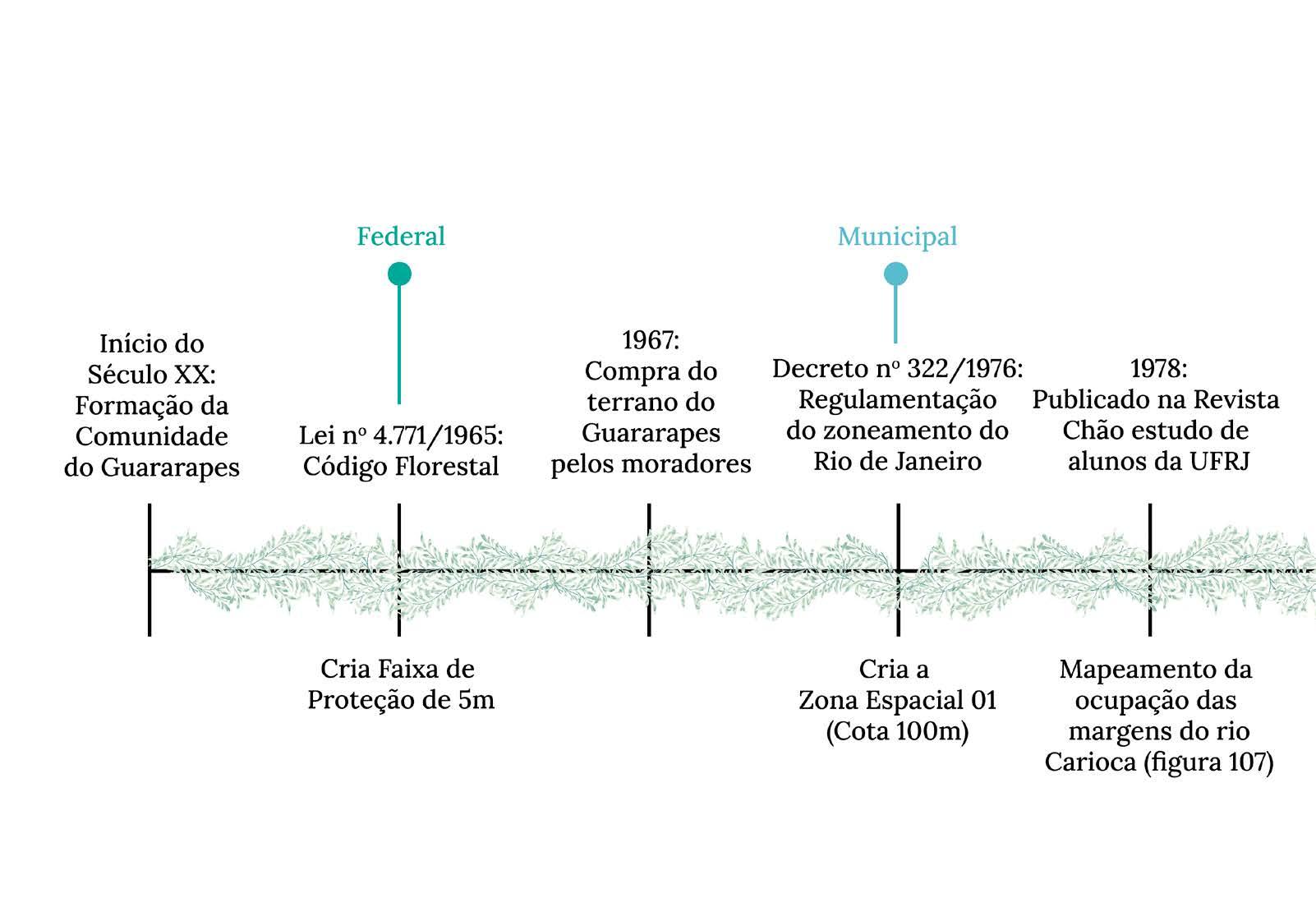 FIGURA 107: Levantamento de Guararapes feito por alunos
FIGURA 107: Levantamento de Guararapes feito por alunos
CONSIDERAÇÕES
98
da UFRJ em 1978.
FIGURA 108: Seleção da tipologia de acordo com os espaços livres disponíveis. FONTE: AMORIM, 2021, p.133.

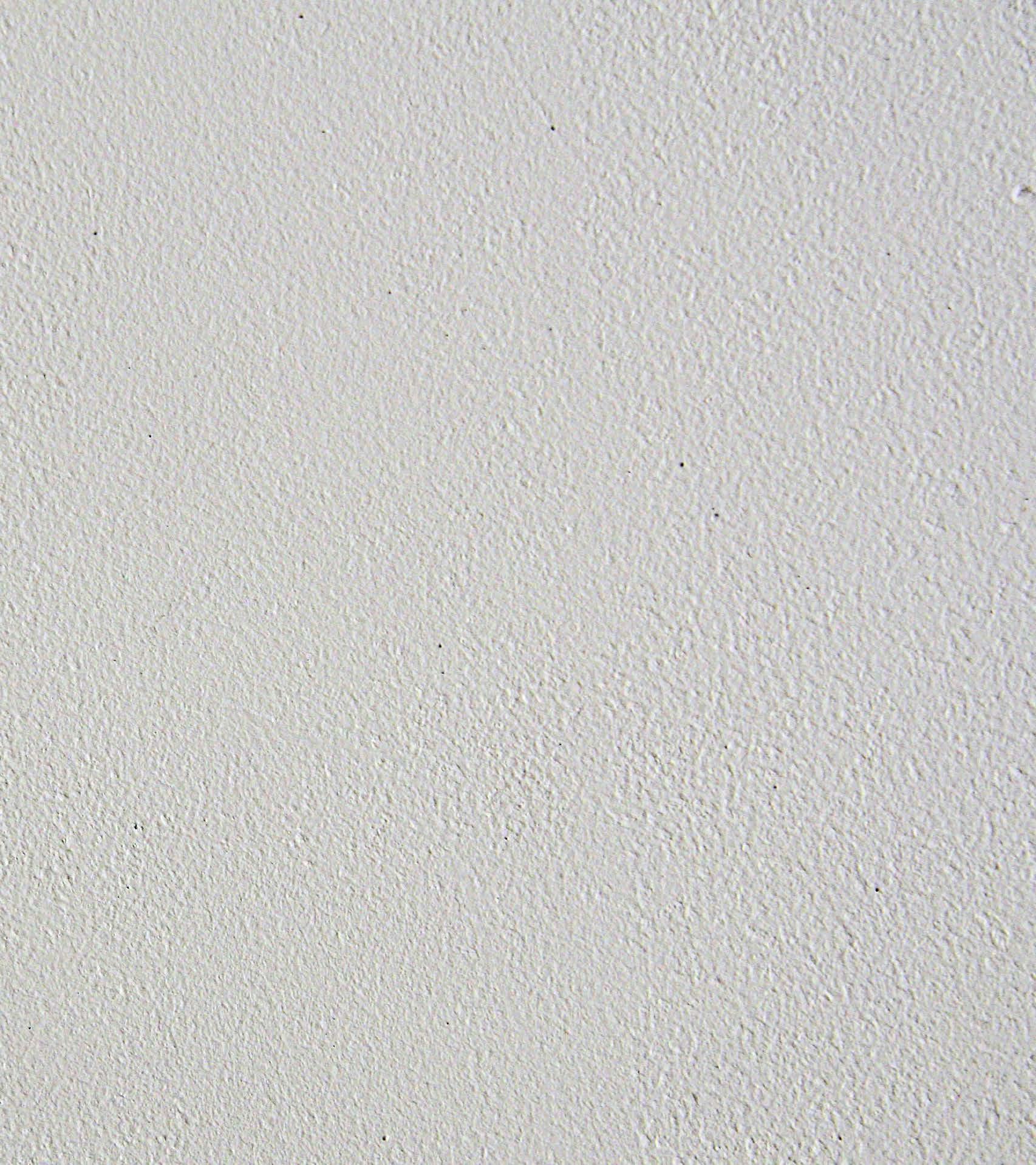

99
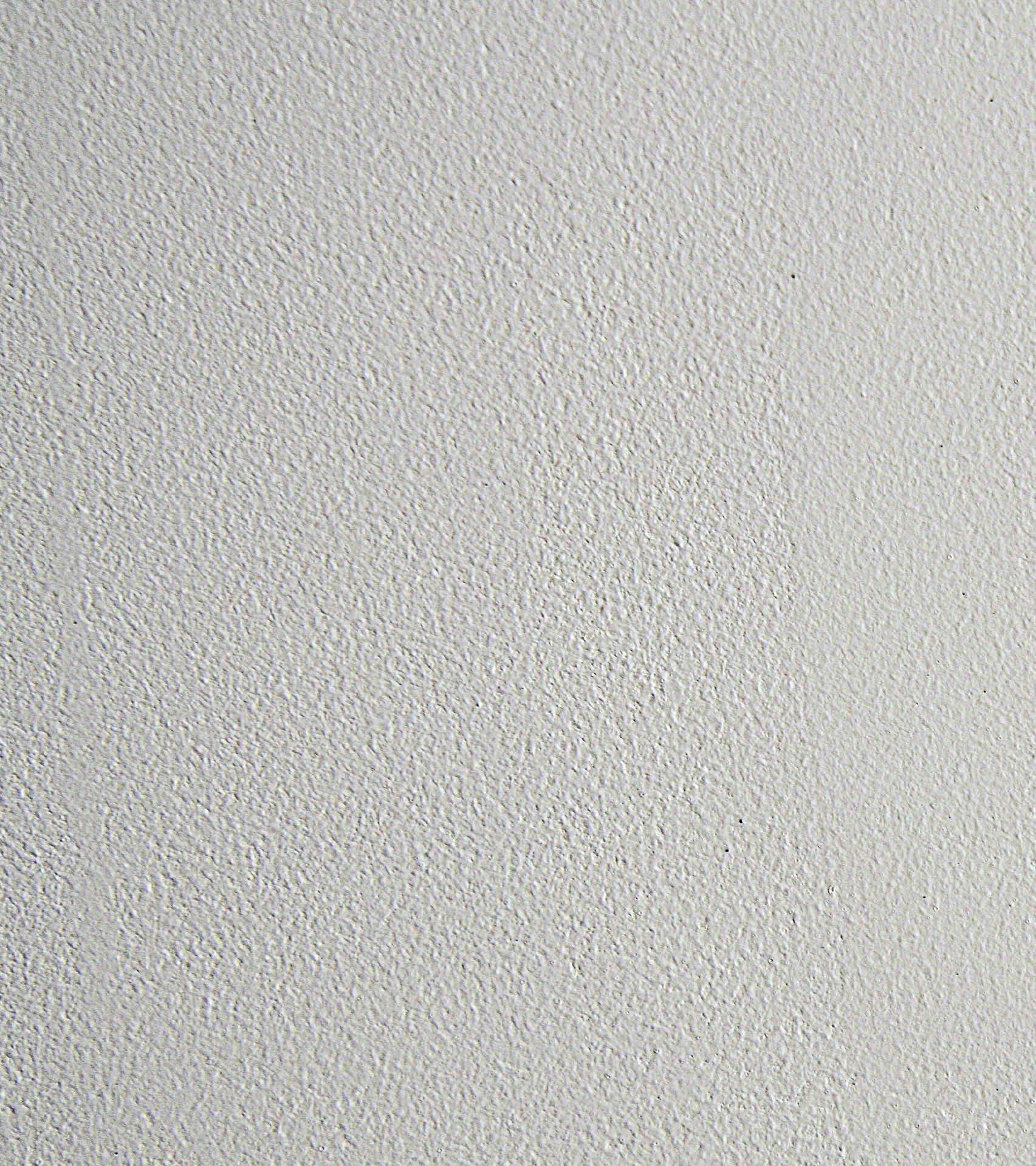

FIGURA 112: Mapa de estruturas de proteção patrimonial. FONTE: elaborado pelo autor com dados do DATARIO.
Esse mapa indica quais bens já têm proteção patrimonial específica e quais não possuem ainda essa proteção. Uma proposta desse trabalho é que os bens ainda não protegidos passem a sê-lo em esfera estadual.
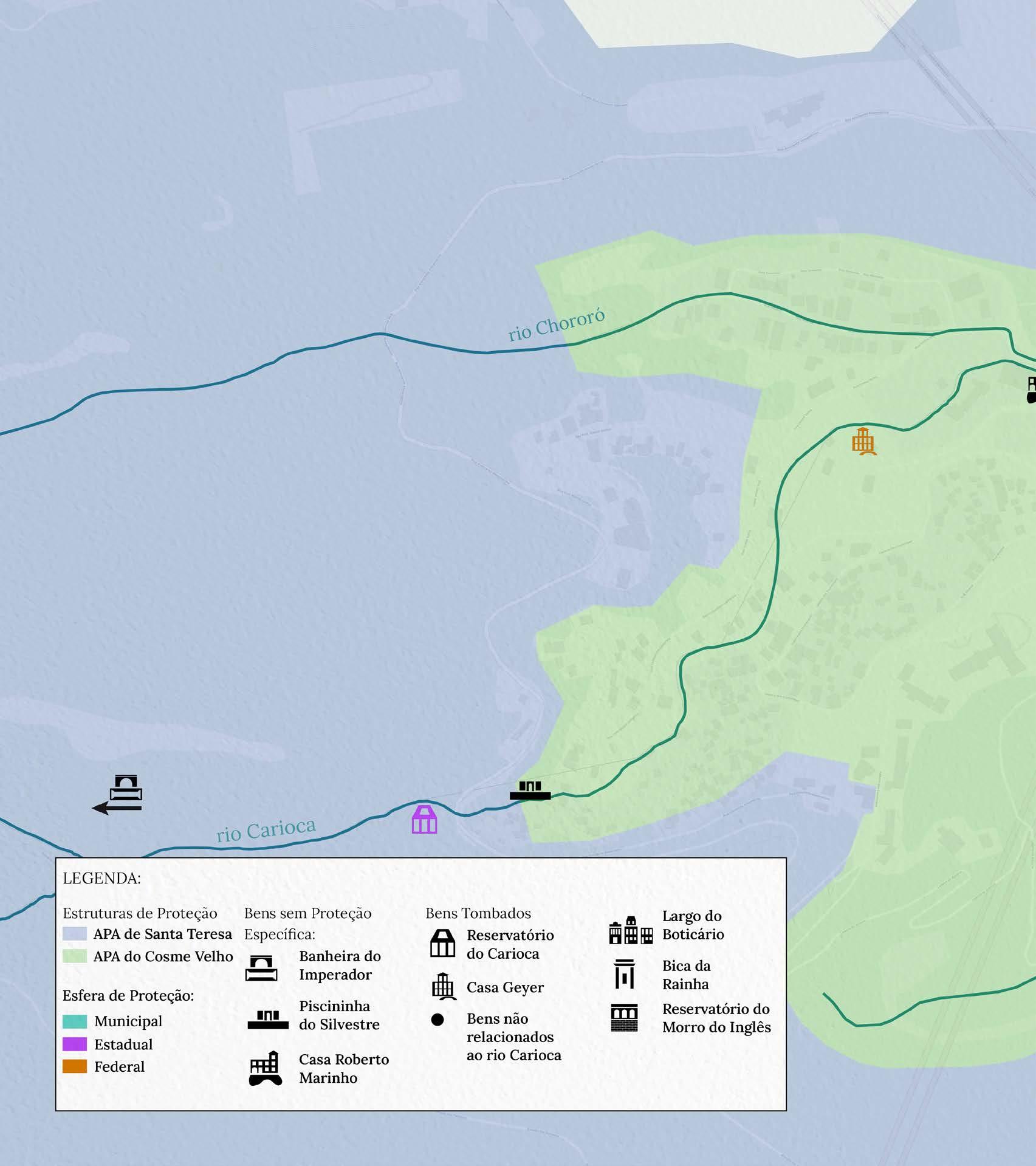
Outra estrutura de pro teção que deve ser mencionada é o tombamento em esfera estadual (2018) do próprio rio Carioca como “bem natural”.

Além disso, a área do nosso estudo integra a região determinada como Paisagem Cultural pela UNESCO. Isso confere ainda mais força à ideia de se trabalhar os elementos paisagísticos do Cosme Velho.
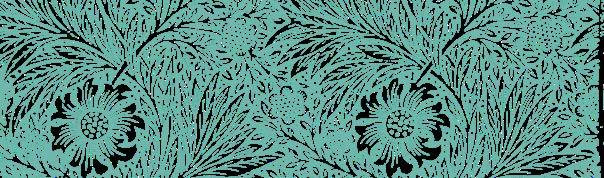
102
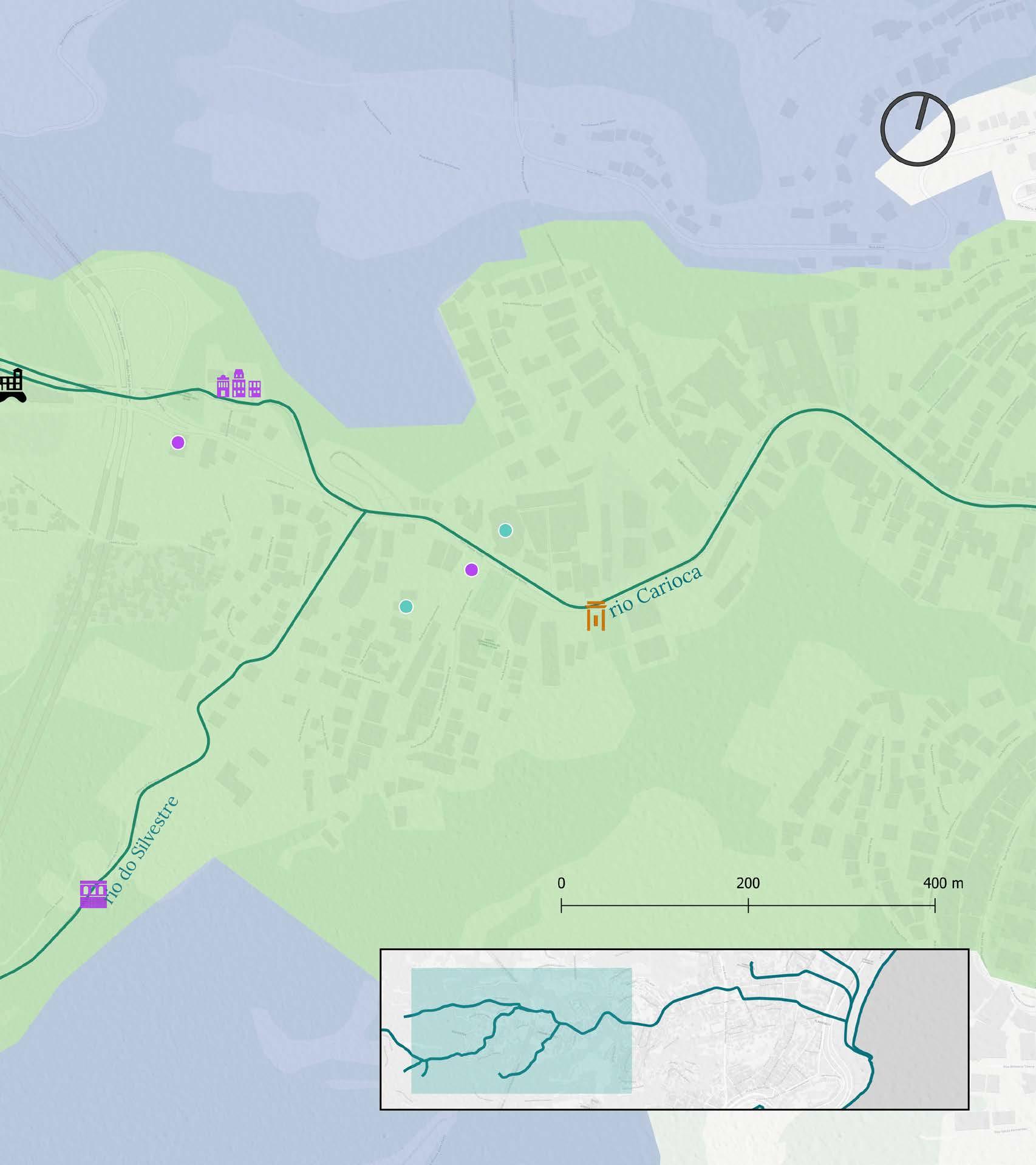
ESCALA 1:4.000 103

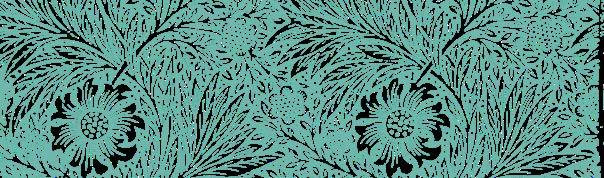

FIGURA 113: Mapa de equipamentos públicos. FONTE: elaborado pelo autor. 104
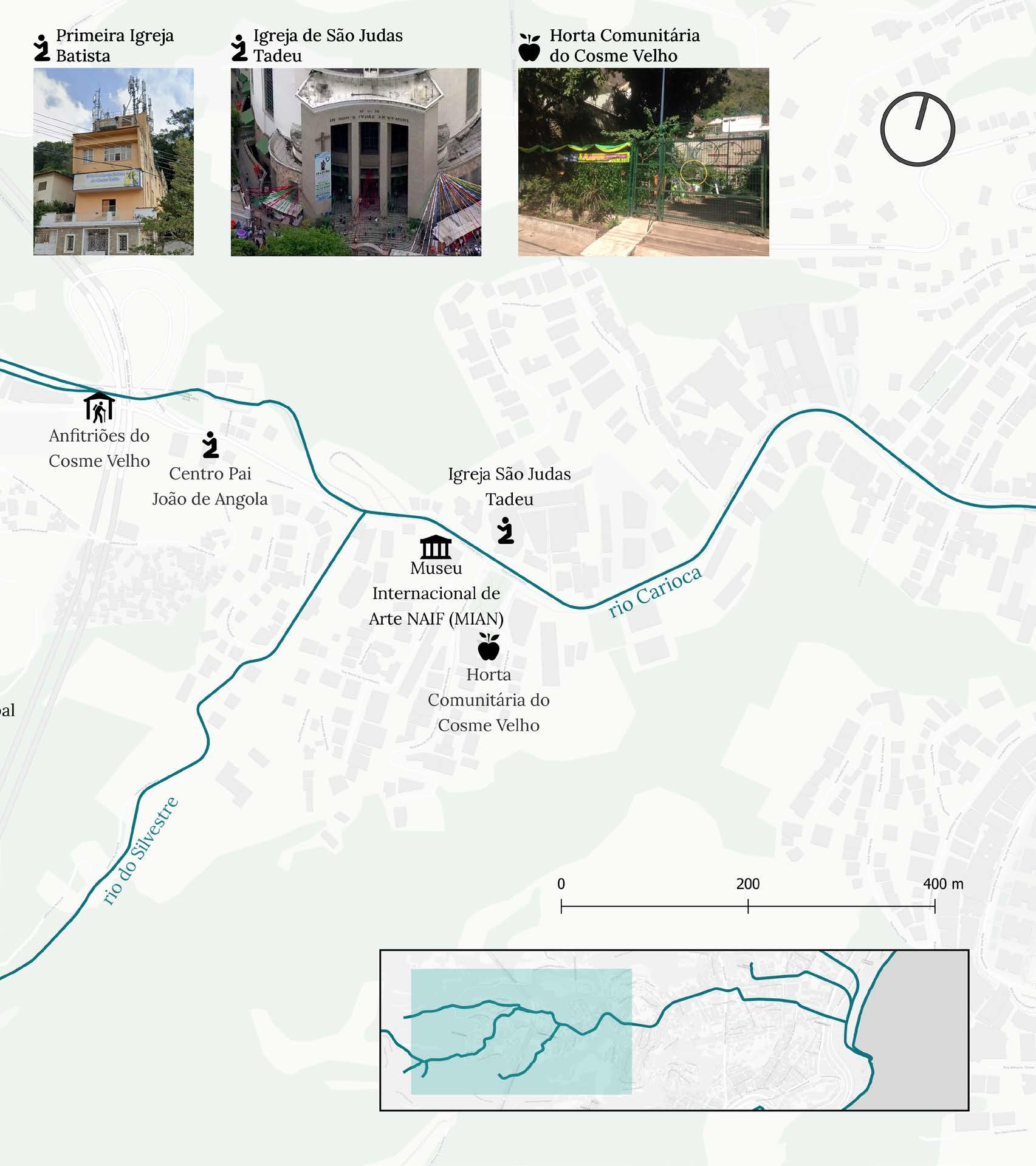
105
FIGURA 114: Mapa de subáreas de atuação projetual. FONTE: elaborado pelo autor.
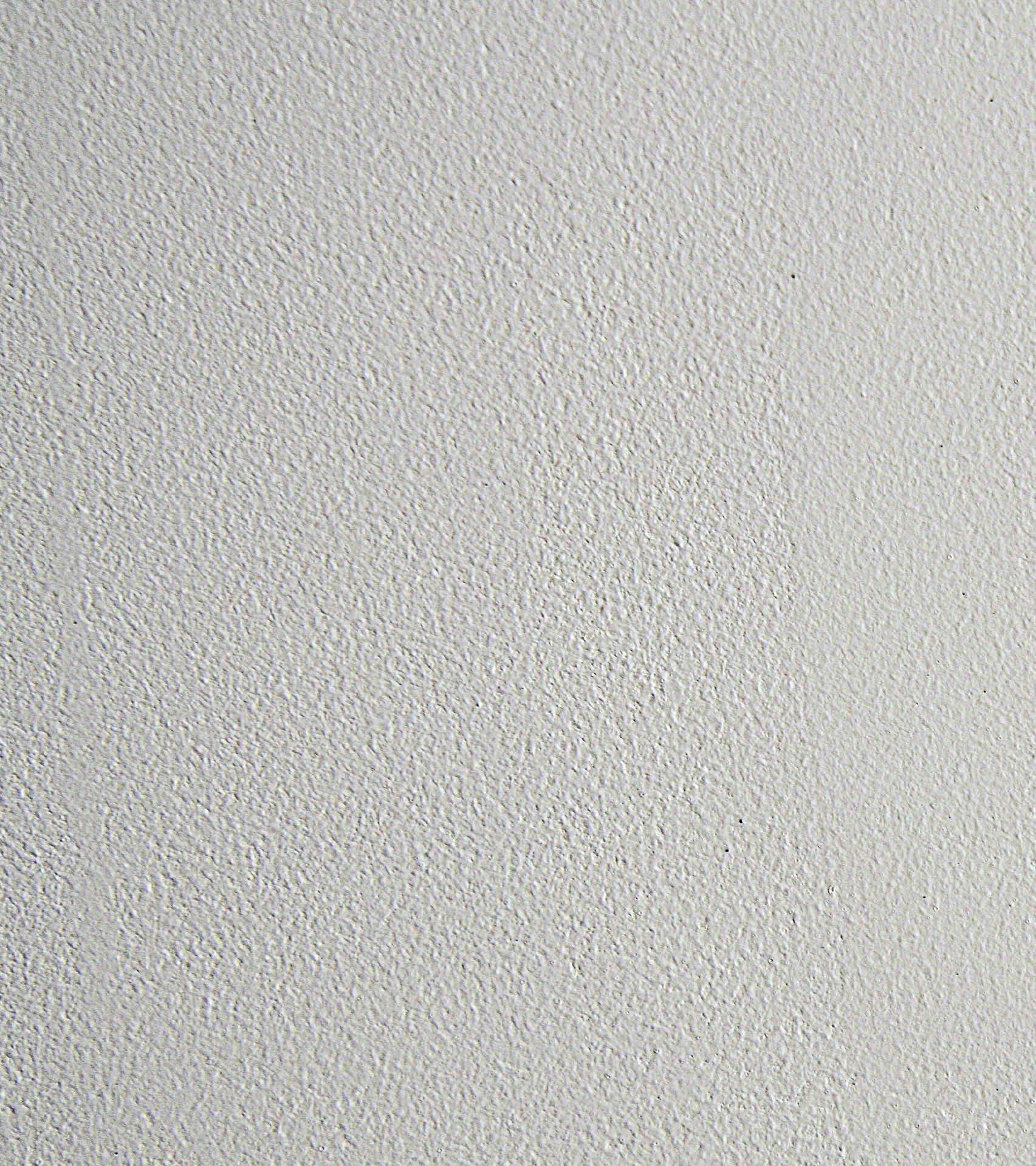
Com a análise do bairro do Cosme Velho realizada neste diagnóstico, foram definidas cinco subáreas de ação.
A primeira delas é aquela que compreende a Banheira do Imperador e seu entorno. Já a segunda, é composta pelo Reservatório do Carioca, trecho da rua Almirante Alexandrino, a Piscina do Silvestre, a via Carioca da comunidade do Guararapes, os terrenos baldios e trecho da rua Conselheiro Lampreia. A subárea 3 corresponde ao Reservatório do

Morro do Inglês e a subárea 4 é aquela que concentra os canais do rio Carioca. Já a 5, corresponde à Bica da Rainha e seu entorno. Finalmente,a 6 é a foz do rio Carioca e sua redondeza imediata.
A partir daqui, o diagnóstico irá se debruçar no aprofundamento da proposta de intervenção apenas da subárea 2 e, para tal, ampliaremos mais uma vez a escala da análise de maneira que as características singulares deste local sejam mais bem apreendidas.
106


ESCALA 1:4.000 107
FIGURA 115: Mapa do perímetro da intervenção na subárea 02. FONTE: elaborado pelo autor.
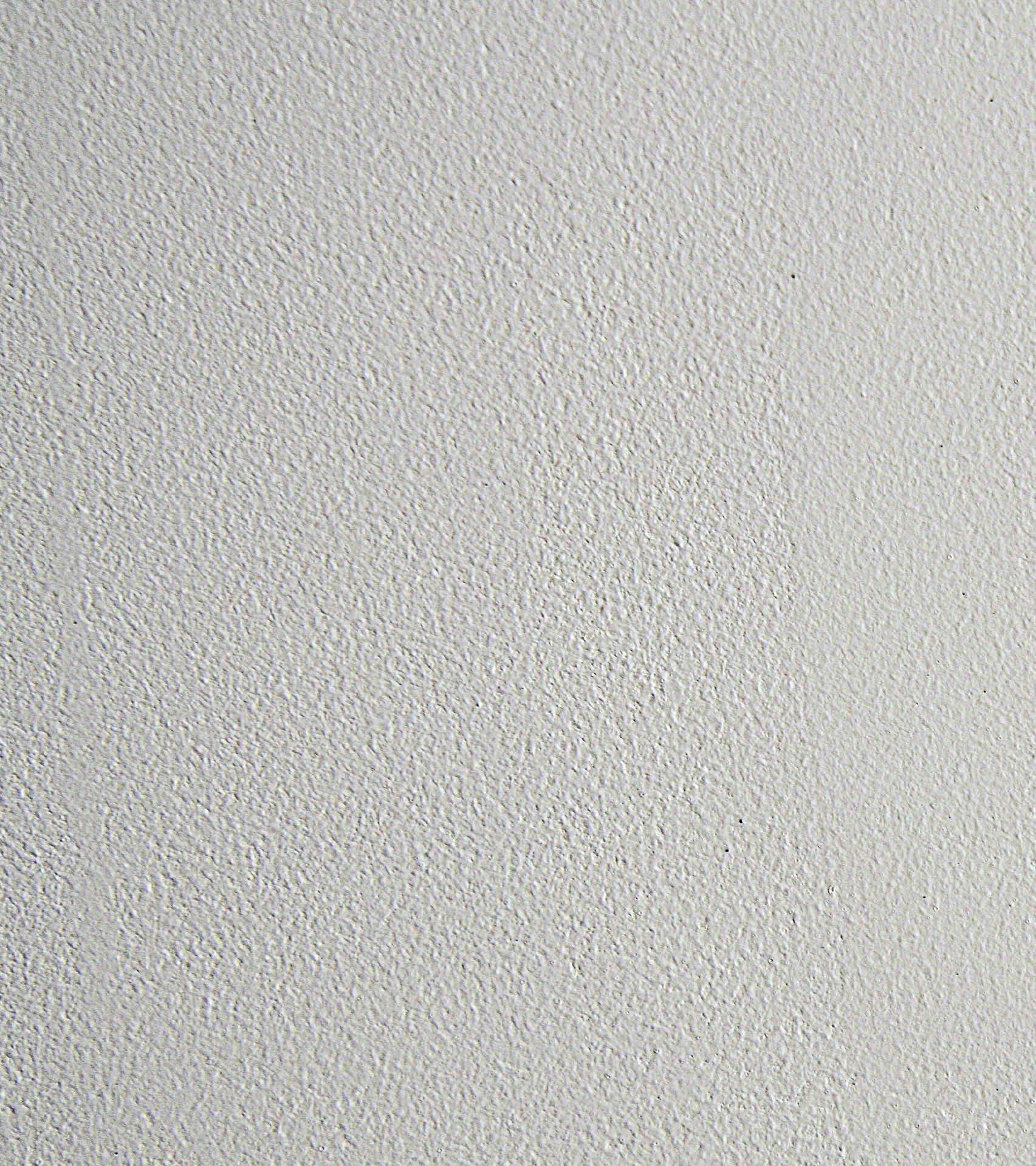
Este mapa define o perímetro da intervenção da subárea 2. Ele inclui o Reservatório do Cario ca, que inclui a Casa do Cloro e Casa do Encarregado (hoje encontra-se ocupada), trecho da rua Almirante Alexandrino e Piscininha do Silvestre. Além disso, está incluído o trajeto entre a Piscininha e a comunidade do Guararapes e os baldios que se encontram entre o rio Carioca e a rua Conselheiro Lampreia.
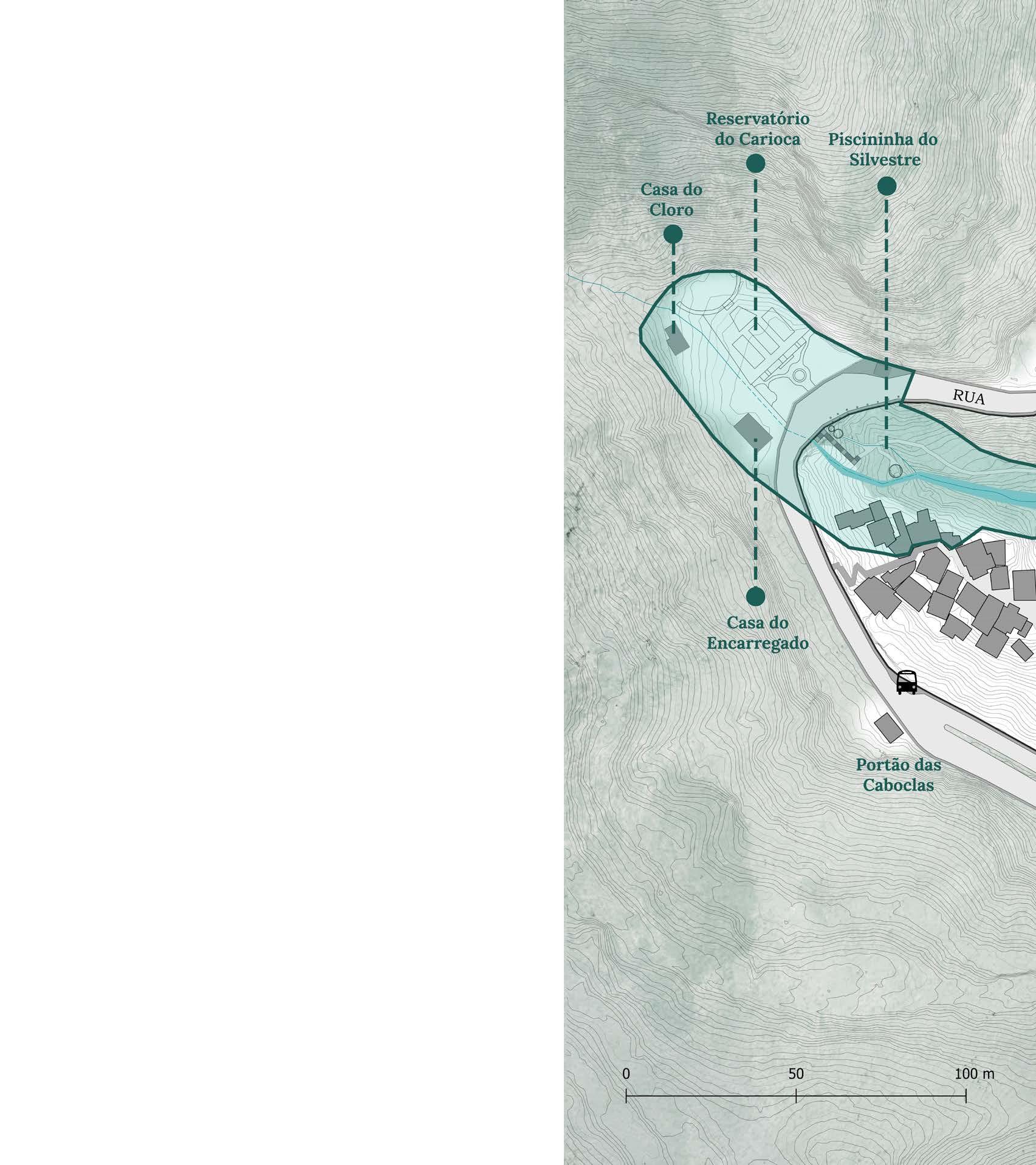
108

baldio 01 baldio 02 bd. 04 baldio 03 bd. 05 109
FIGURA 116 Mapa de Figura e Fundo da área 02.
elaborado pelo autor.

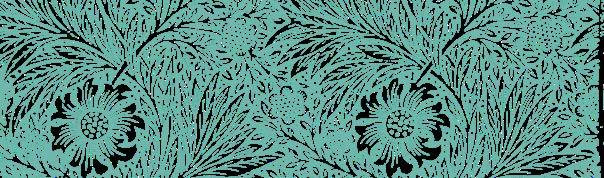
No mapa de Figura e Fundo, o que se percebe é como o Guararapes possui maior densidade de domicílios caso seja comparado com a densidade das demais vias dessa subárea.

FONTE:
110

111
O mapa de Gabaritos mostra certa homogeinidade nas alturas desta subárea, uma vez que é uma região marcada pela existência de residências unifamiliares. Destaca-se a creche Tia Amélia (que também é cede da Associação dos Moradores do Guararapes - AMOG) como edifício mais alto da região o que simboliza sua relevância dentro da comunidade.

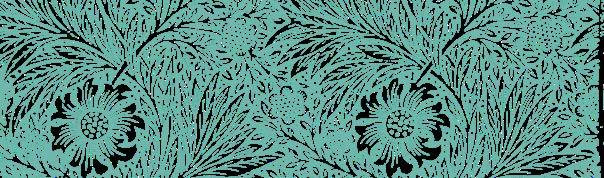
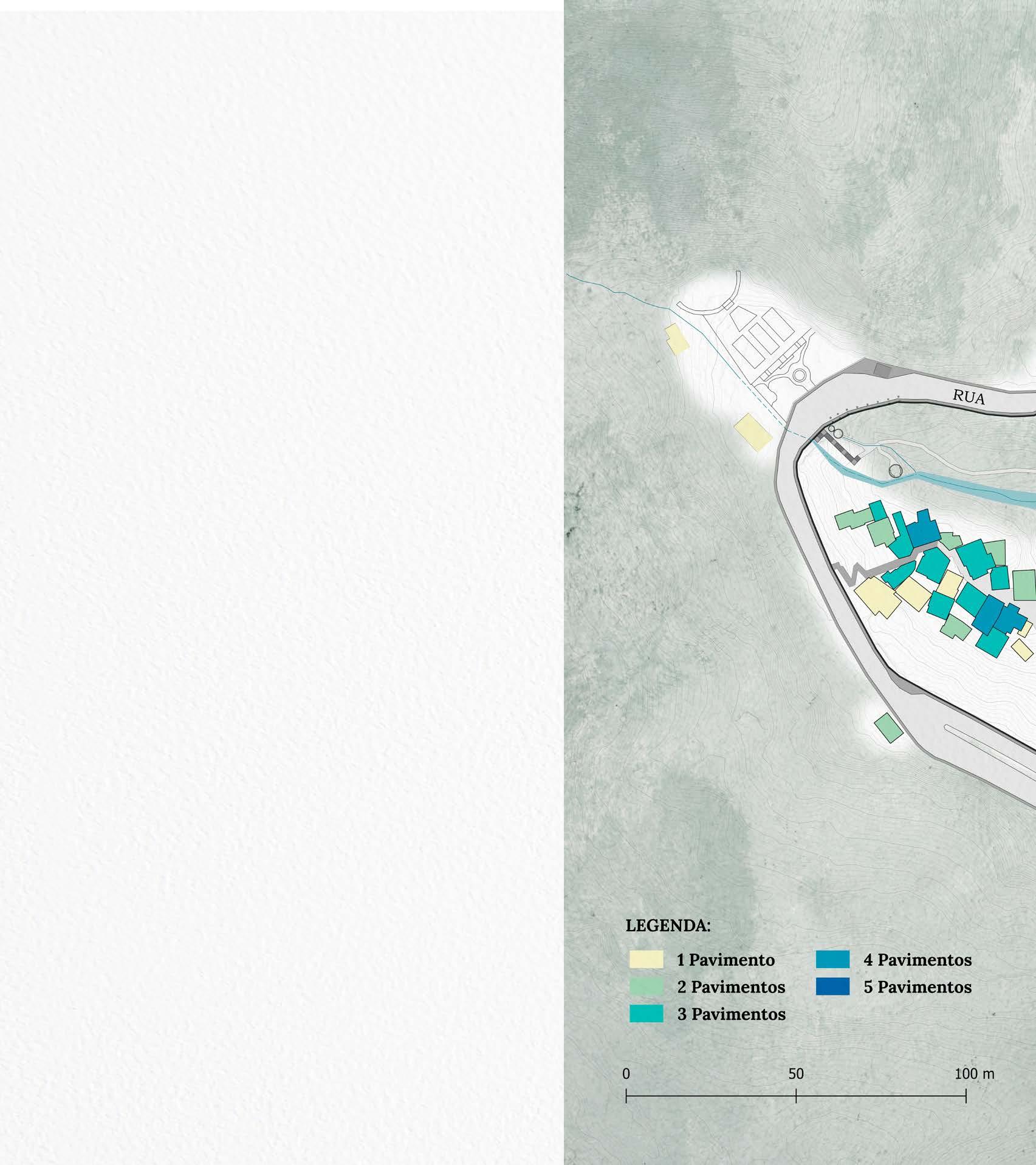
FIGURA 117: Mapa de
gabaritos
da
área
02. FONTE: elaborado pelo autor.
112

113
FIGURA 118: Mapa de usos da área 02. FONTE: elaborado pelo autor.
Este mapa mostra como a subárea 02 é marcada principalmente pelo uso residencial. A ladeira do Guararapes se mostra como centro comercial da comunidade.

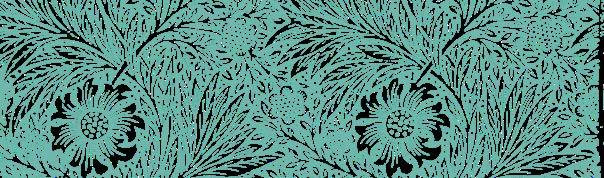
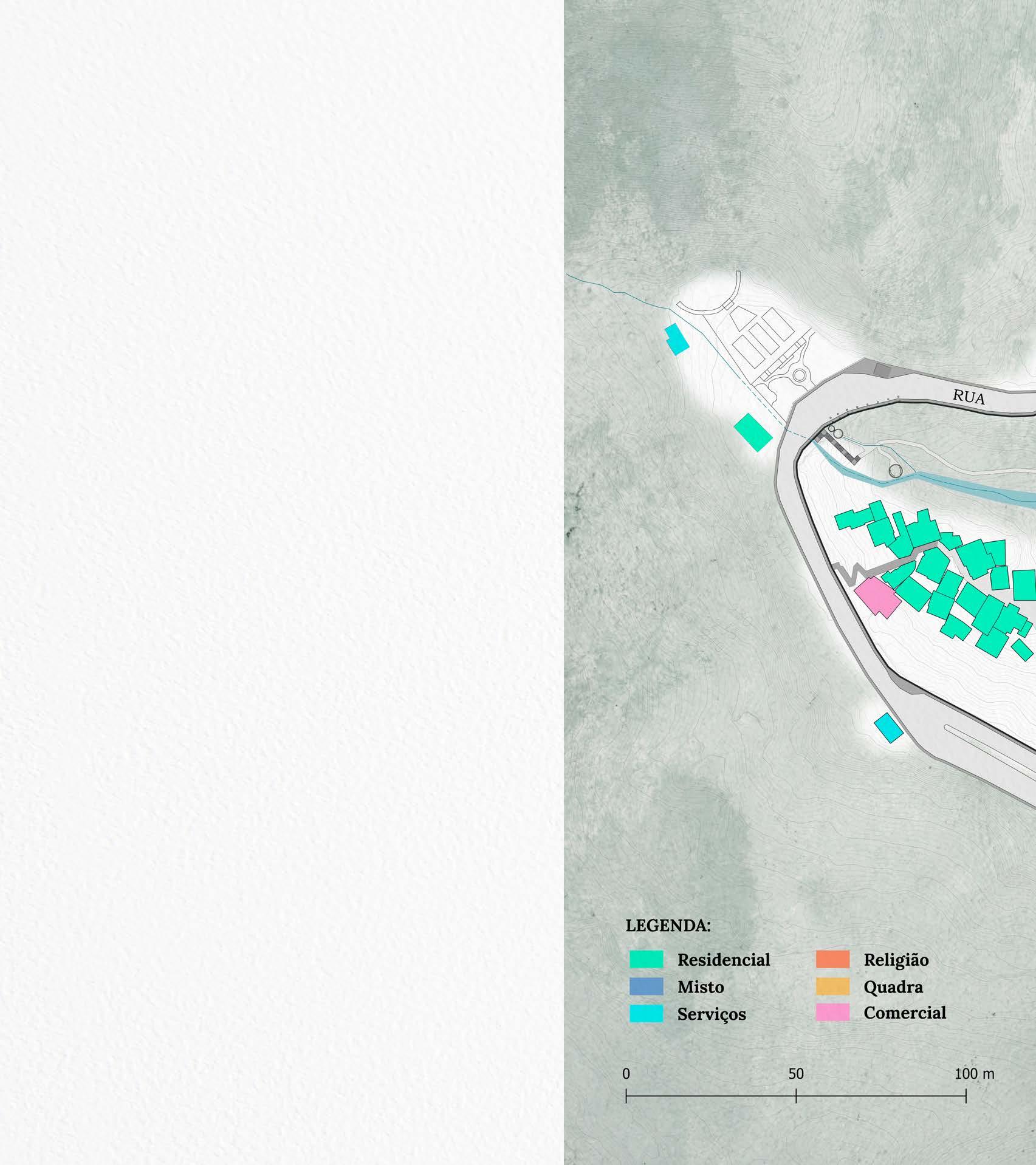
114

115
FIGURA 119: Mapa de Caminhos da área 02.
O mapa de caminhos revela as conexões existentes entre Guararapes e rua Conselheiro Lam preia. São diversas servidões alocadas nos baldios que, conjugadas com pontes permitem o cruzamento do rio Carioca para o pedestre ou motociclista. Ademais, a conexão entre a comunidade e a Piscininha do Silvestre ainda se faz por um caminho de terra o que prejudica sua acessibilidade.

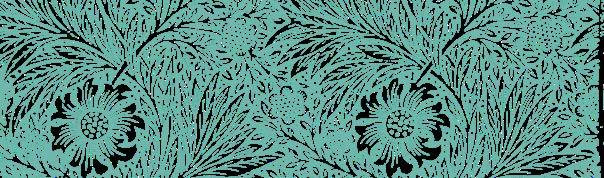

FONTE: elaborado pelo autor.
116

117
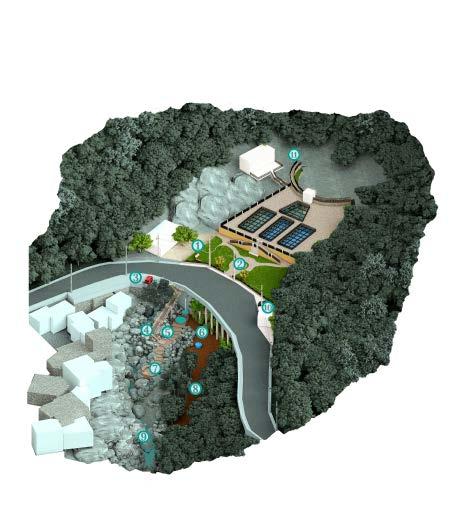

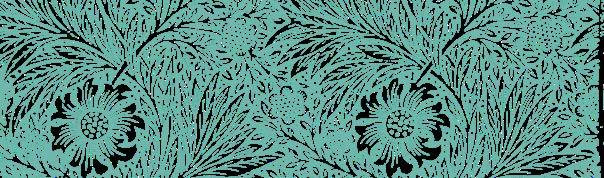

FIGURA 119: Diagrama do Reservatório e da Piscininha. FONTE: elaborado pelo autor. 118
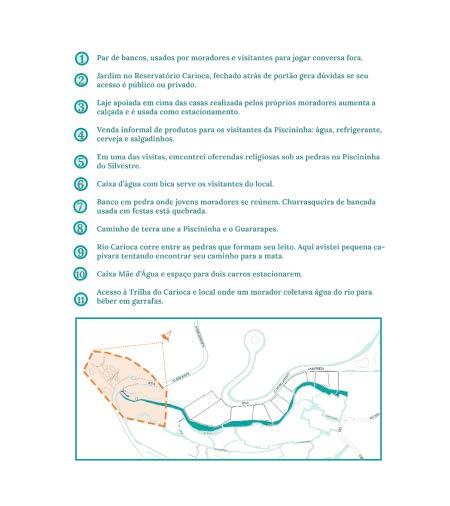
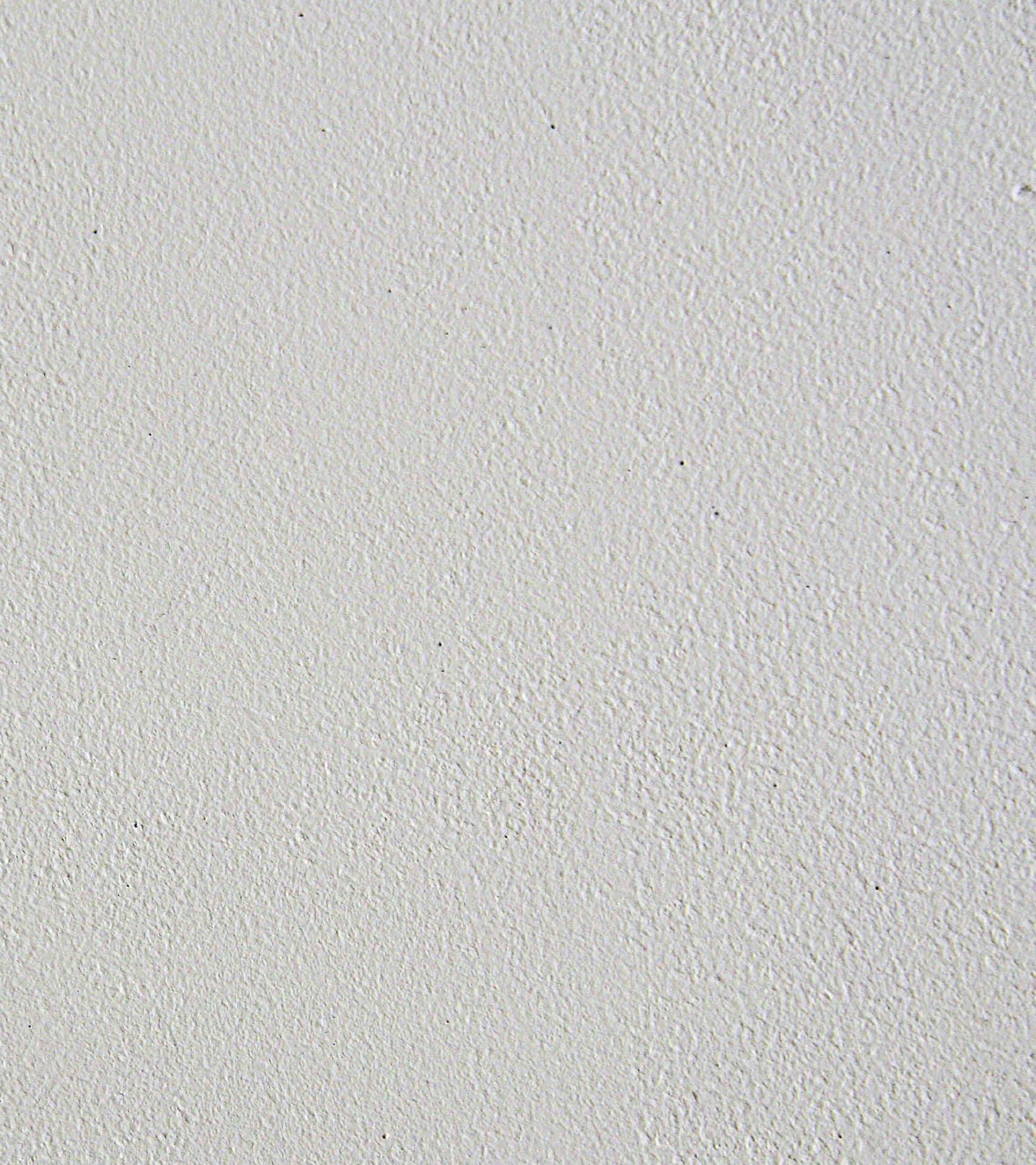
119
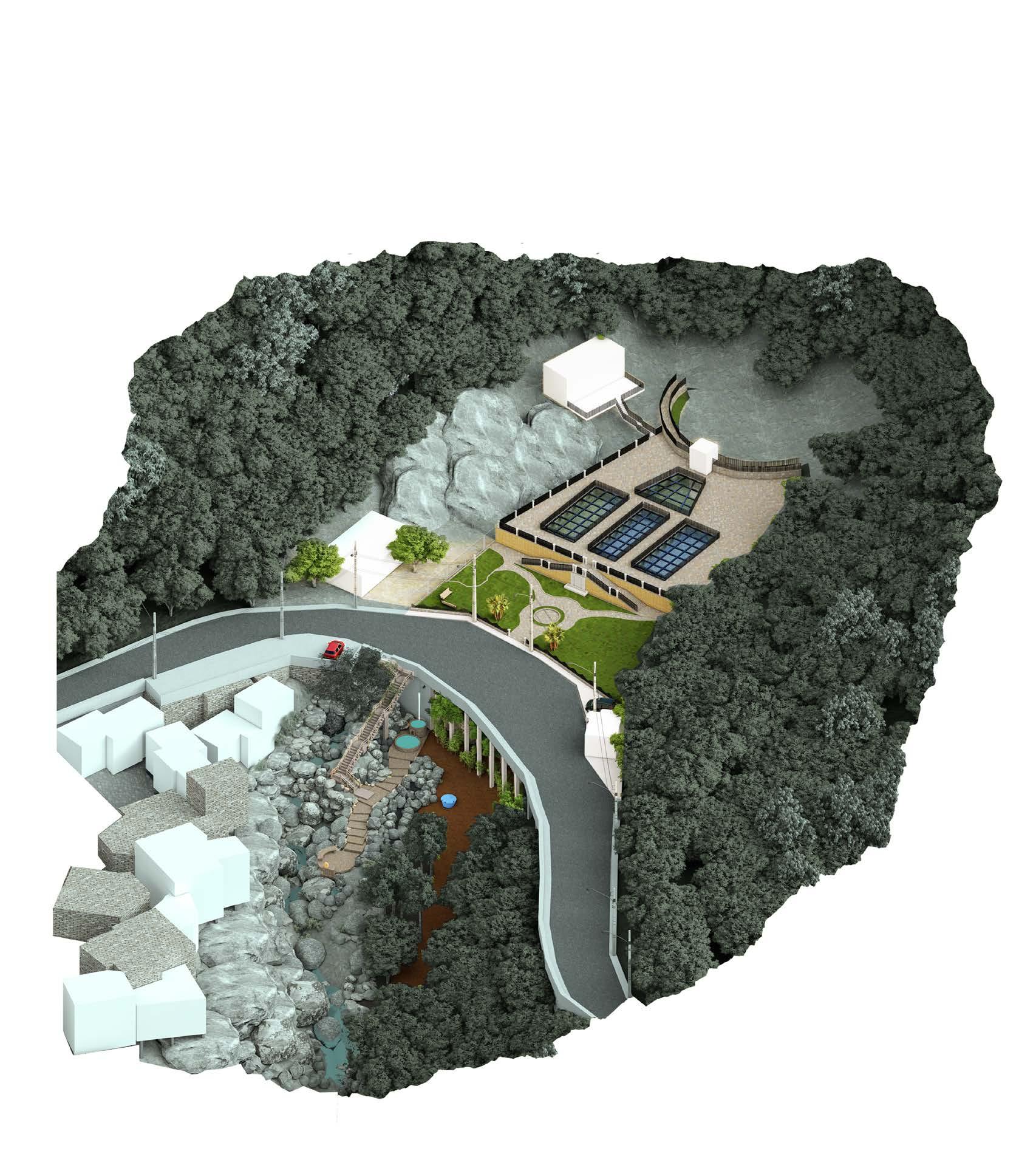

120

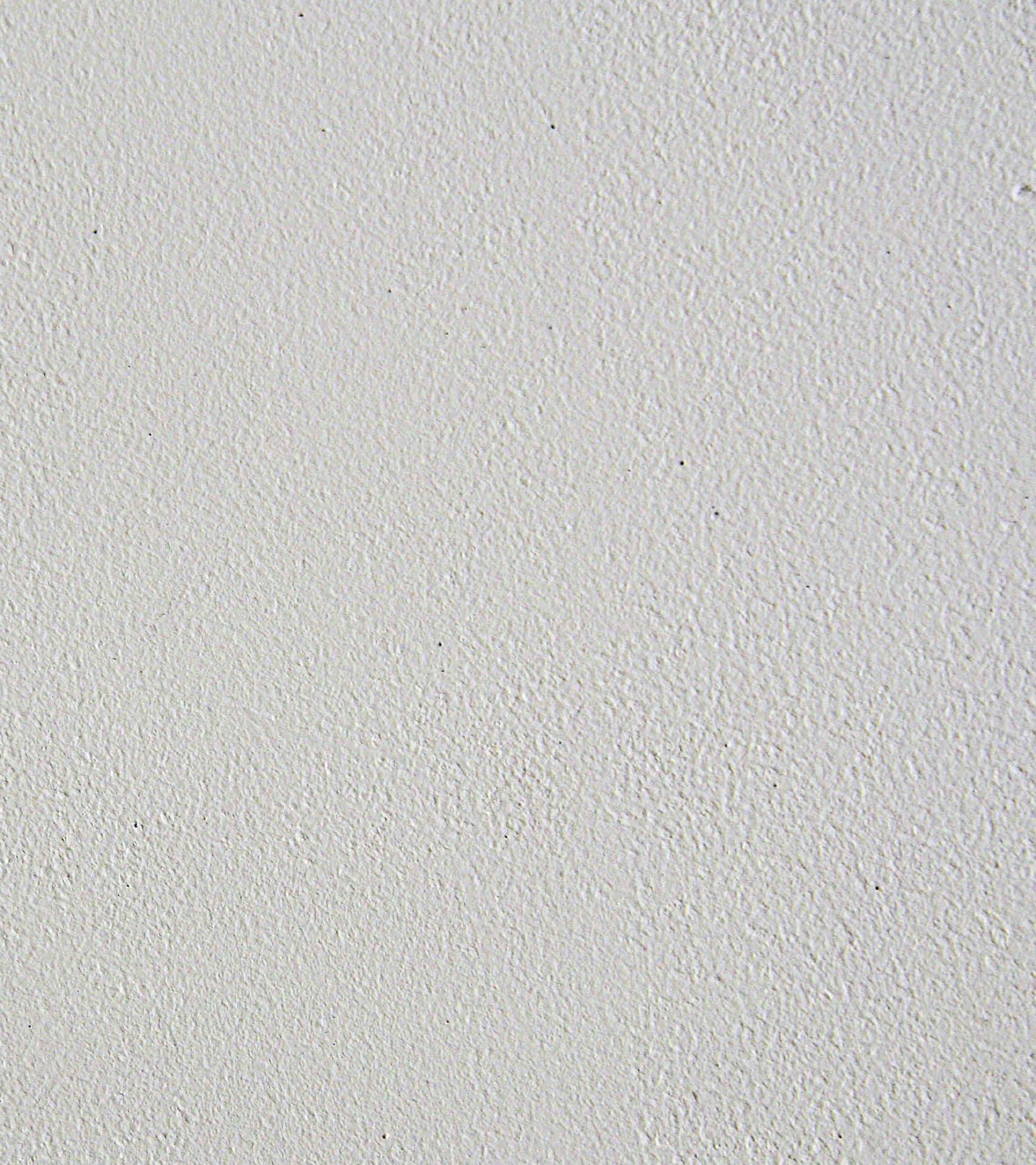
121


122
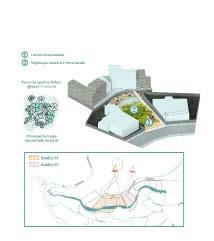
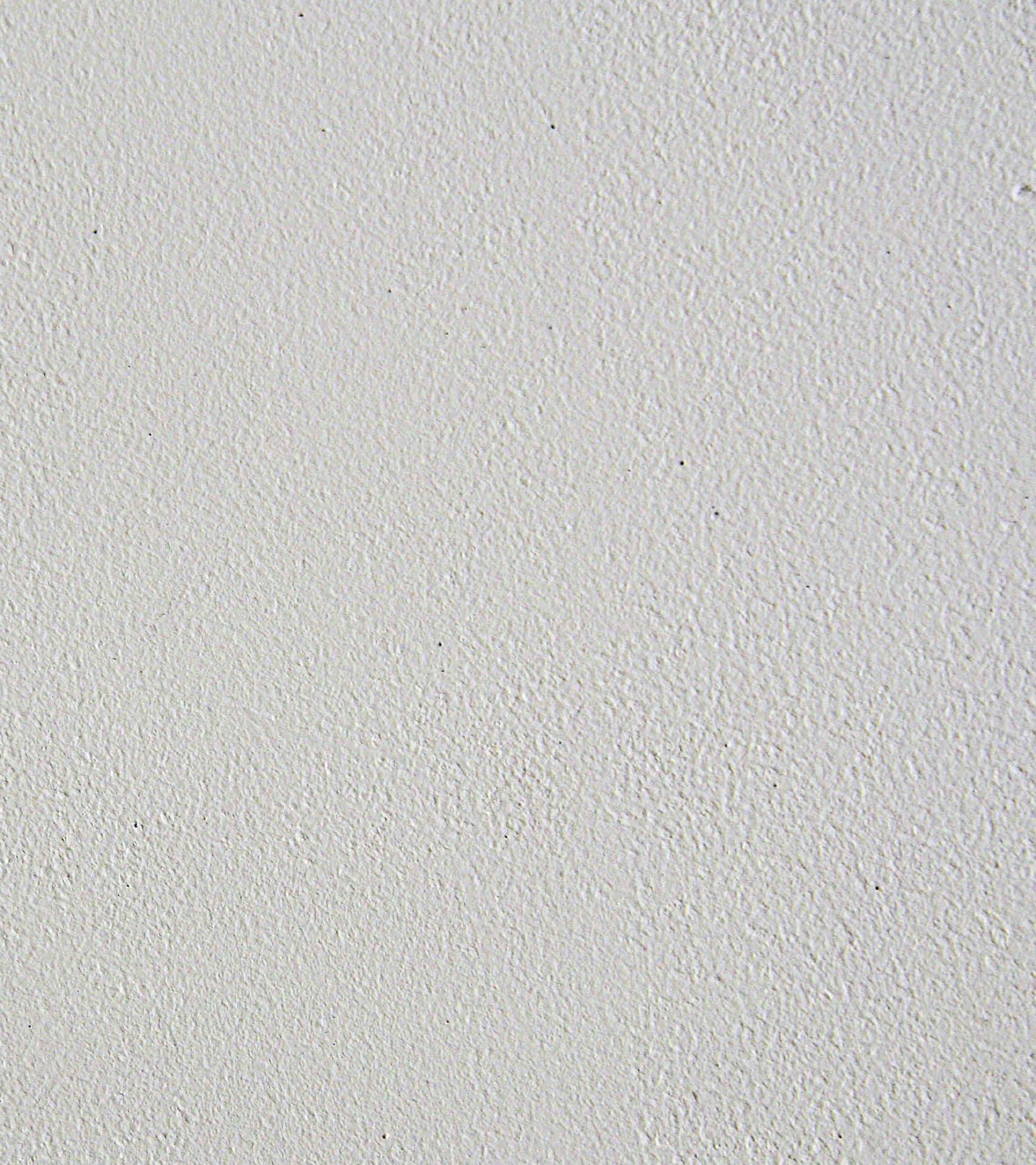
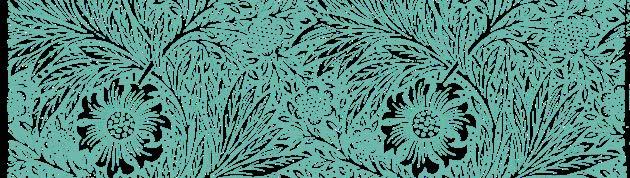

FIGURA 122: Diagrama do Baldio 2. FONTE: elaborado pelo autor. 123


124

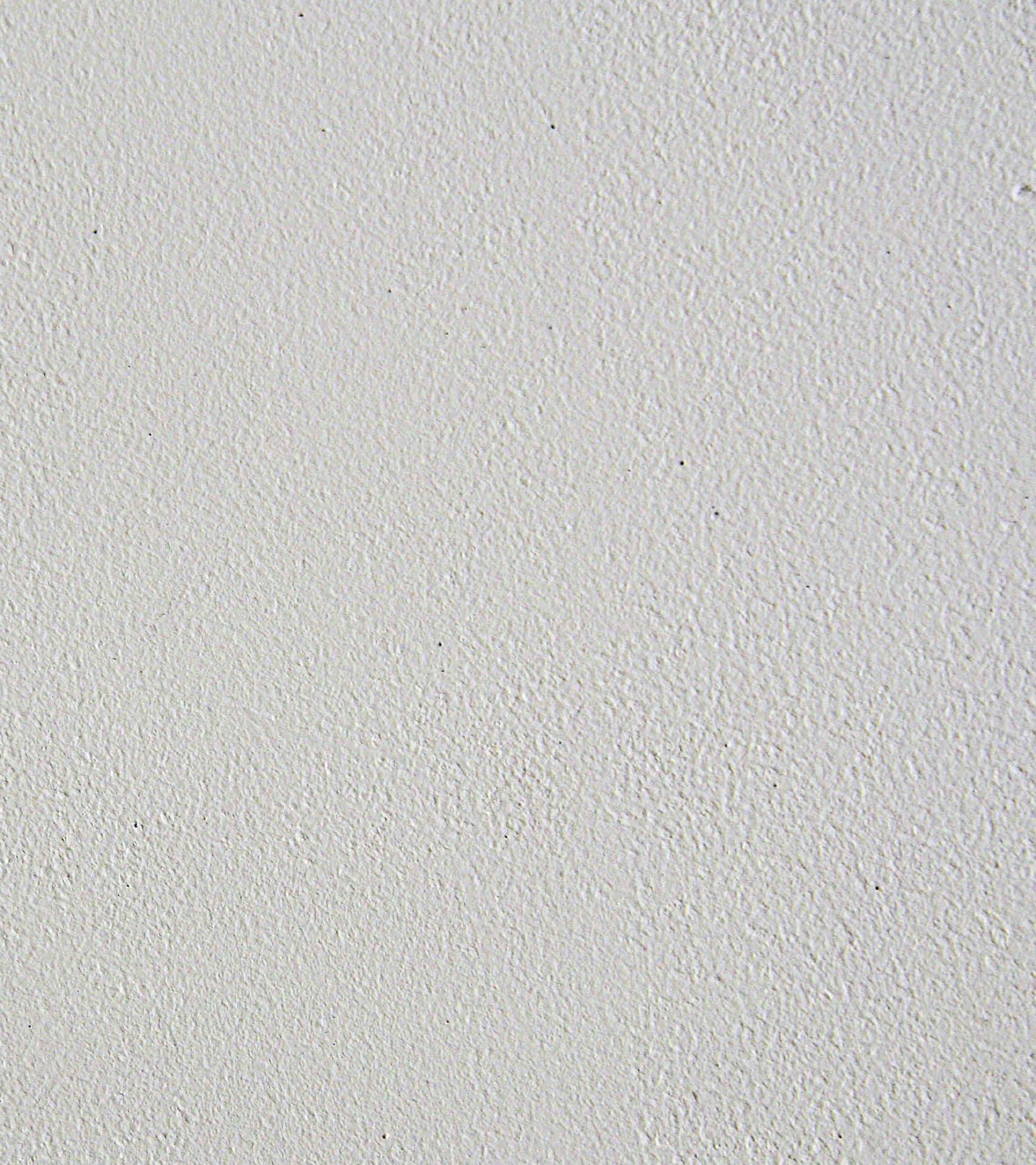
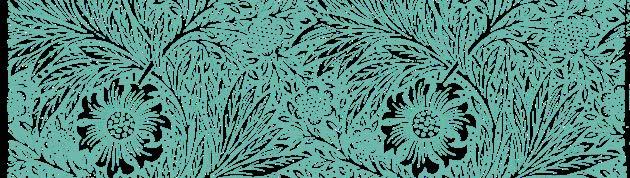

FIGURA 124: Diagrama do Baldio 4 e 5. FONTE: elaborado pelo autor. 125


126
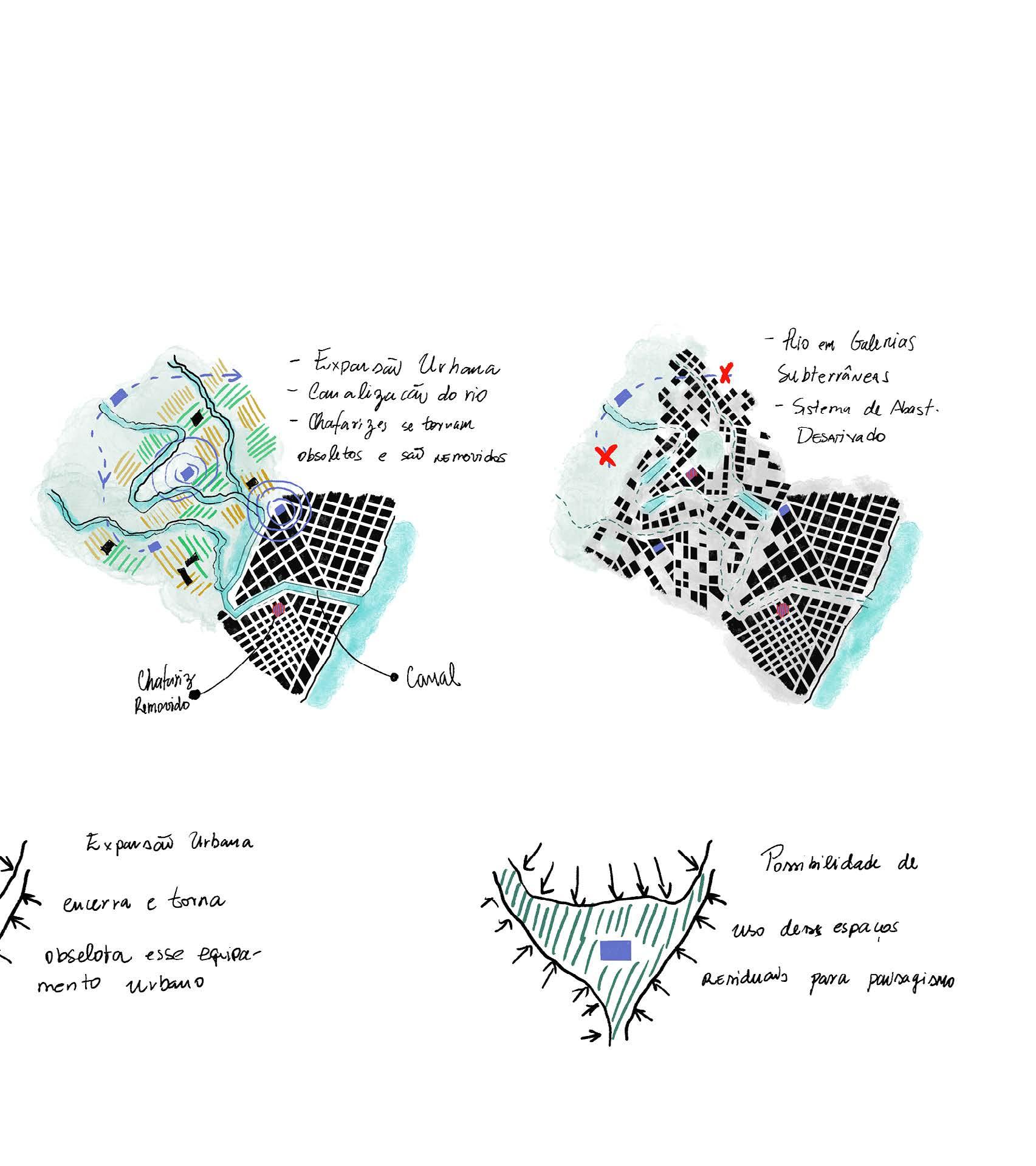
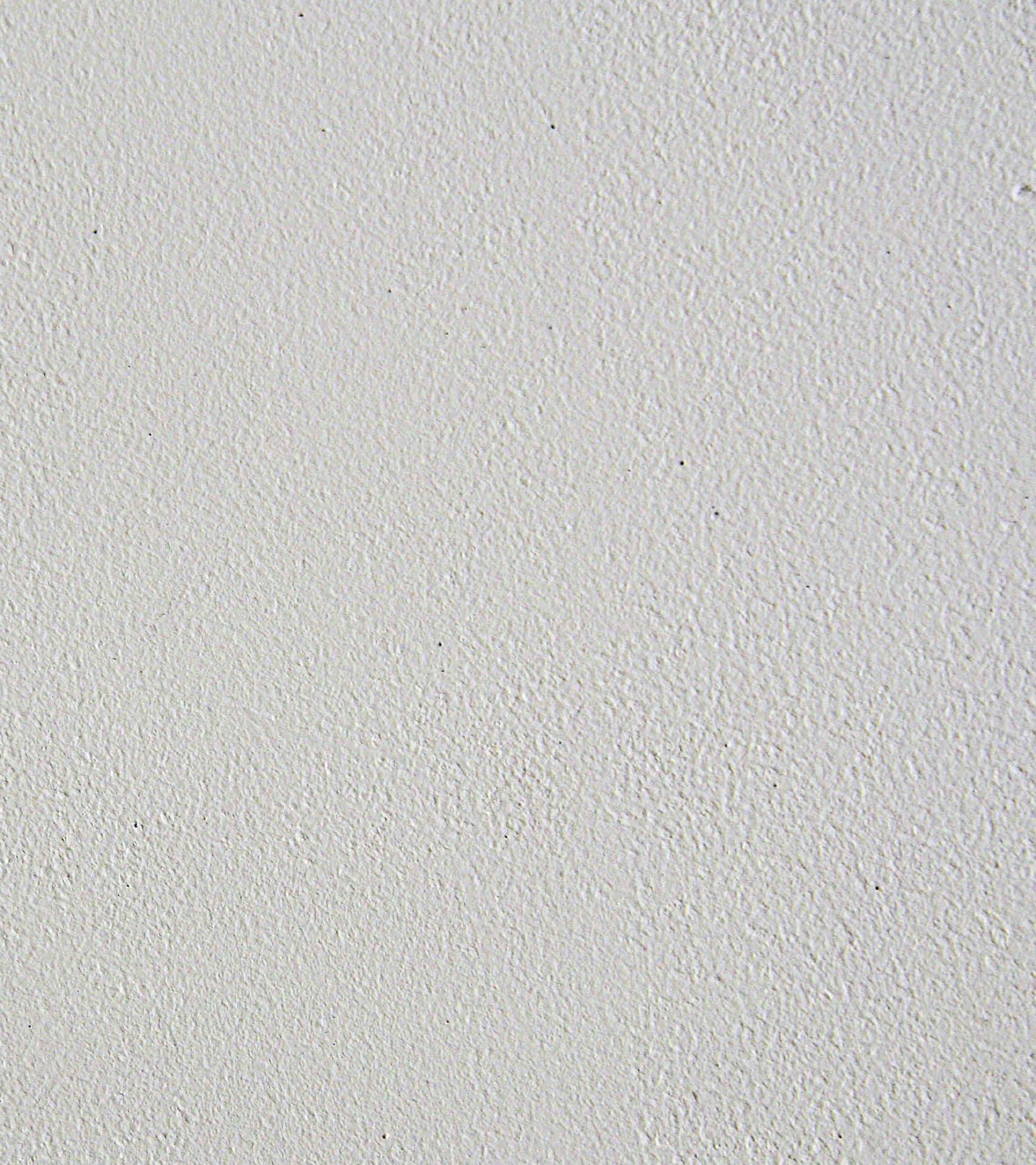
127
03. Outras paisagens


FONTE: Realizado pelo autor

3.1. Gilles Clément: conceitos a partir de três jardins


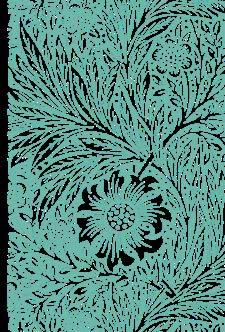
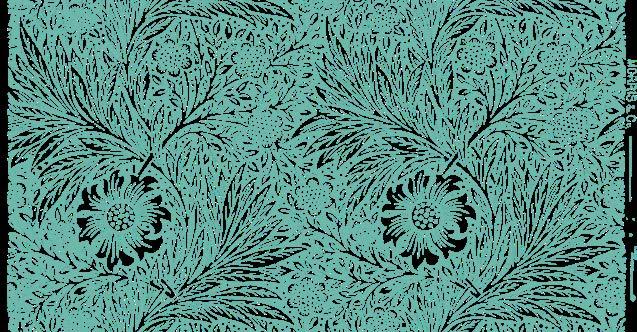
Jardim La Vallée
Nesta sessão será analisado como o paisagista francês Gilles Clément aplicou os conceitos teóricos Jardim em Movimento e Terceira Paisagem em seus projetos de parques e jardins. O primeiro, já reproduzido na figura 77 (p. 59) é o jardim La Vallée (O vale) (figura 127) erguido próximo à vila de Crozant, no departamento de Creuse que fica no centro da França. Trata-se de um pomar e bosque de cinco hectares que se estende em torno da residência de campo do próprio Clément cujo terreno foi comprado em 1977. É a partir da experimentação nesse local que o paisagista vai desenvolver o conceito de Jardim
em Movimento publicando livro com mesmo nome em 1991 (GANDY, 2012).
Quando se comparam as imagens da figura 126, percebe-se como o perfil da vegetação mudou ao longo do tempo. O que gerou essa alteração não foi a interferência do paisagista e sim a própria sequência natural de plantas. A mão do paisagista pode ser percebida claramente apenas no trecho mantido aparado à esquerda das imagens. Eventualmente, Clément expande esse jardim para uma parte que nomeou de Le Champs (O campo). Nele a singeleza do paisagista se revela nas poucas intervenções executadas: poda apenas uma vez por ano na segunda semana de setembro e uma pequena plataforma de madeira (figura 128).
É a partir dessa pequena plataforma e munido de um par de binóculos que Clément vai realizar uma série de experimentos sobre sucessão biológica. Esse aspecto cientificista nos projetos do paisagista é uma característica que se repete revelando sua personalidade como polímata e humanis ta (GANDY, 2012).
FIGURA

126: Casa de campo do Clément cercada pelo jardim La Vallé em momentos distintos. FONTE: blog “Cidade-Ideal” (<http://cidade-ideal.blogspot.com/2017/02/gilles-clement-jardiner-cest-resister.html> Acessado em: 16/06/2022).
130




FIGURA 127: O jardim La Vallé. FONTE: blog “Cidade-Ideal” (<http://cidade-ideal.blogspot.com/2017/02/gilles-clement-jardiner-cest-resister.html> Acessado em: 16/06/2022). FIGURA 128: Les Champs, expansão do jardim La Vallée. Site Le Point (<https://www.lepoint.fr/culture/visite-privee-de-la-maison-verte-de-gilles-clement-04-07-2009-921718_3.php > Acessado em: 16/06/2022). 131
Parc André Citroën
Já em 1992 ele vai poder aplicar o conceito de Jardim em Movimento em um grande parque públi co. Foi o caso do Parc André Citroën (figura 129) com 14 hectares de área próximo ao rio Sena em Paris. O espaço em que o projeto foi executado correspondia a uma antiga fábrica da empresa automobilística que foi demolida em um grande esforço de requalificação urbana dessa região da cidade. O contexto político era de rivalidade entre o governo central, que em 1990 havia financiado a construção do Parc de la Villette de Bernard Tschumi (1944), e a adminis-

tração municipal, que queria um parque para cha mar de seu. Um grande concurso foi realizado para decidir quem iria ficar a cargo desse projeto e duas equipes saíram vencedoras: uma do paisagista fran cês Allain Provost (1938) e outra de Gilles Clément. O professor Ângelo Serpa (2004) vai qualificar esse encontro projetual entre os dois como a conciliação de dois discursos. O primeiro possuía “formalismo urbanístico” (2004, p.145) e “insistia sobre a estruturação do espaço urbano pelos jardins” (2004, p.145).
Já o segundo era “cênico” e possuía um “lirismo neo-romântico” (2004, p.145).
FIGURA 129: Parc André Citroën. FONTE: Site Kalliergeia (<https://www.kalliergeia.com/en/parc-andre-citroen-the-controversial-beautiful-park/
>
Acessado em: 16/06/2022).

132
FIGURA 130: Mapa do Parque, grifo meu. FONTE: Maps of Paris (<https://pt.map-of-paris.com/parques,-jardins-mapas/c-andr%C3%A9-citro%C3%ABn-mapa> Acessado em: 16/06/2022).


133
O grifo (figura 130) vermelho indicam os seis jardins seriados (figura 131) de Clément enquanto o amarelo o Jardim em Movimento (figura 132). Segundo Serpa:

Os jardins [seriados] foram concebidos como espaços pedagógicos, como uma espécie de museu a céu aberto, no qual os usuários e visitan tes são induzidos a percorrer um itinerário que vai de jardim em jardim, o que parece restringir outros usos e práticas. Apesar da presença de (poucas) pes soas tranquilamente deitadas em bancos nos jardins seriais de Clément, a concepção de espaços vegetados temáticos como “cenários naturais”, que não podem ser utilizados “livremente”, acaba por deter
minar as atitudes dos usuários. A maior parte deles assume uma postura contemplativa em relação a es ses espaços, com uma única motivação implícita, de “aprender com a natureza”. (2004, p.150)
Nesses jardins, Clément estabelece maior controle na escolha de vegetação e formas. Portanto, são exemplos de momentos em que o paisagista tomou postura mais tradicional. Já quando olhamos o Jardim em Movimento do Parc André Citroën percebemos a aplicação desse conceito de mesmo nome em um parque público.

A partir das figuras 132 e 133, pode-se notar esta aplicação. A introdução de equipamentos singelos como bancos de madeira e a criação de trajetos a partir do próprio caminhar dos visitantes. Como foi visto no capítulo 2, esse trabalho de conclusão de curso vai detalhar a subárea 2 que é marcada por fluxos existentes: do Guararapes à rua Conselheiro Lampreia, do Guararapes à rua Almirante Alexandrino. Dessa maneira, parece-me próprio para o local um paisagismo que implica na ideia de trajeto ou caminho, aspecto esse muito observado nos projetos do paisagista francês.

FIGURA 131: Jardim prateado (esquerda) e jardim laranja (direita), dois dos jardins seriados. FONTE: Site Kalliergeia (<https://www.kalliergeia.com/en/parc-andre-citroen-the-controversial-beautiful-park/ > Acessado em: 16/06/2022). 134
FIGURA 132: Jardim em Movimento do Parc André Citroen. FONTE: Google Maps (Acessado em: 16/06/2022).



FIGURA 133: Jovens se reúnem em banco no jardim em movimento. FONTE: Architectural Review (<https://www.architectural-review.com/essays/sceptred-isles-the-possibility-of-the-archipelago > Acessado em: 16/06/2022).

135
Terraço da Base de Submarinos de Saint-Nazaire
Outro conceito de Clément, o de Terceira Paisagem, pode ser visto no jardim no terraço da Base de Submarinos de Saint-Nazaire (figura 134), cidade no noroeste francês. Este edifício foi construído em 1941 pelos alemães no contexto da Segunda Guerra Mundial como parte da infraestrutura militar do conflito. Ao longo das décadas, a zona onde a base se situa foi sendo abandonada até o ano de 1994, quando a administração do município decidiu requalificá-la com projeto do urbanista espanhol Manuel de Solà-Morales (1939 – 2012) (VIDEIRA; FRUTUOSO, 2016).

Em 2009, Gilles Clément é chamado para fa zer parte do evento de arte Estuaire1. Ao observar a existência de vegetação nascendo no terraço da base de submarinos, decide realizar sua intervenção nes se local. O paisagista propõe para ele três jardins: o bosque dos choupos, o jardim das gramíneas e o jardim das etiquetas (VIDEIRA; FRUTUOSO, 2016).

No primeiro (figura 135), vai plantar uma série de 104 choupos na laje da sala de explosão de bombas. O tronco dessas árvores vai cruzar uma série de vigas de concreto para a copa se abrir no ter raço.
Já no segundo (figura 136 e 137), vai introduzir um canal central para fornecimento de água e alguns pedriscos, o que permitiu o crescimento
1 Evento de arte contemporânea que ocorre no estuário do rio Loire. Já teve três edições: em 2007, 2009 e 2012
FIGURA 134: A Base de Submarinos de Saint-Nazaire. FONTE: Cosmopolis (<http://matthewgandy.blogspot.com/2011/05/urban-islands-parc-henri-matisse-lille.html > Acessado em: 16/06/2022).
136







FIGURA 135: Bosque dos choupos, terraço (esquerda) e sala de explosão de bombas (direita). FONTE: Le Voyage a Nantes (< https://www.levoyageanantes.fr/en/artworks/jardin-du-tiers-paysage/> Acessado em: 16/06/2022). FIGURA 136: Jardim das Gramíneas. FONTE: Le Voyage a Nantes (< https://www.levoyageanantes.fr/en/artworks/jardin-du-tiers-paysage/> Acessado em: 16/06/2022). FIGURA 137: Jardim das Gramíneas. FONTE: Le Voyage a Nantes (< https://www.levoyageanantes.fr/en/artworks/jardin-du-tiers-paysage/> Acessado em: 16/06/2022). abundante de diversas gramíneas e ervas por cima do próprio concreto. 137
Finalmente, no terceiro, o jardim das etiquetas (figura 138), uma fina camada de substrato foi espalhada em uma porção retangular do terraço. Todas as plantas surgiram naturalmente a partir de pássaros e outros animais que trouxeram as sementes. Duas ve zes por ano, alunos de universidade local visitam o jardim e cada novo espécime encontrado é iden tificado e indicado com uma nova etiqueta.
Mais uma vez vem à tona o aspecto cientificista dos projetos de Gilles Clément que podem funcionar tanto como um

fator de engajamento do público como um fator de distanciamen to, caso se encontre demasiadamente hermético. No projeto no terraço da base de submarinos de Saint-Nazaire, Clément parece ter sido bem-sucedido ao criar um ambiente estimulante e que foi abraçado pela comunidade local.

Os três jardins desse último são amplamente visitáveis e permitem que as pessoas se aproximem da vegetação e melhor se relacionem com ela. Além disso, no terraço existe um forte elemento narrativo: um antigo apa-
relho de guerra antes intranspo nível que agora permanece como jardim público visitável com novas plantas emergindo do próprio concreto. É, portanto, um projeto referencial para este trabalho, uma vez que é exemplo de como o paisagista francês lidou com um patrimônio usando os próprios elementos constitutivos do edi fício como base para estabelecer uma nova poética para o local.
FIGURA 138: O jardim das etiquetas. FONTE: Archdiap (<https://archidiap.com/opera/jardins-du-tiers-paysage/>Acessado em:16/06/2022).

138
Se voltarmos a refletir sobre a subárea 2, definida no capítulo 2 deste trabalho de conclu são de curso, devemos pensar em como não produzir uma paisagem hermética e isolada da comunida de local. Para evitar isso, este projeto tentará valorizar sobretudo as preexistências da área.

A figura 124 mostra como exemplo uma visita das crianças à pequena horta comunitária exis tente na margem do rio Carioca. A intervenção nessa paisagem deve servir a esse tipo de ocorrên cia, ter em mente essas atividades e produzir espaços que lhe deem sobretudo abrigo.
 FIGURA 139: Crianças da escola local visitam horta na margem do rio Carioca. FONTE: acervo de Lenice Paim.
FIGURA 139: Crianças da escola local visitam horta na margem do rio Carioca. FONTE: acervo de Lenice Paim.
139
3.2. Parque do Vale dos Contos: consolidando trajetos
Projeto realizado pelo escritório Archi 5 em 2003, junto ao Programa Monumenta1, que interveio no chamado Vale dos Contos e no parque do Horto Botânico em Ouro Preto, Minas Gerais. Maior atenção será conferida ao primeiro desses lugares uma vez que guarda maior semelhança com o tema deste trabalho de conclusão de curso.


Historicamente, o Vale dos Contos é resultado da expansão urbana de Ouro Preto, uma região marcada por
“topografia acidentada e a implantação urbana promovida pelos portugueses no Brasil colonial combinam-se para explicar a formação de
1 Programa de requalificação de conjuntos urbanos criado durante o governo Fernando Henrique Cardoso financiado em parte pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
FIGURA 140: Vale dos Contos, Ouro Preto, Minas Gerais. FONTE: BONDUKI, 2010, p.205.

áreas com essa configuração, marcada pela localização das edificações no alinhamento das ruas, sem recuos frontais e laterais” (BONDUKI, 2010, p.205).
Desse modo,
“Valorizava-se assim a testada dos lotes, enquanto os fundos eram vistos como sobras, sem muita importância urbana e econômica. Serviam, com alguma frequência, para a formação de pomares e hortas e a criação de pequenos animais [...]. Lotes estreitos e profundos, característicos desse urbanismo tradicional português, estão presentes nas ruas do entorno do Vale dos Contos. A grande distância entre as ruas gerou lotes muito profundos, enquanto a forte declividade do terreno dificultou sua ocupação, criando-se uma área desocupada de significativa dimensão.” (BONDUKI, 2010, p.205).
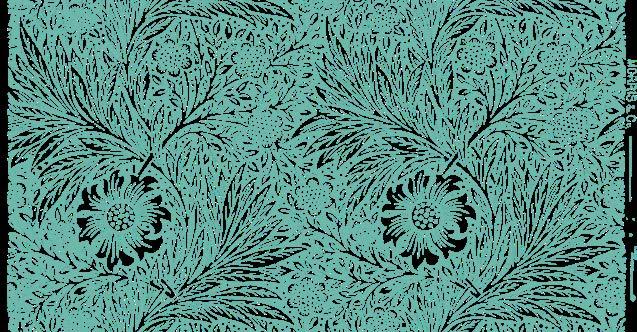
Com o passar do tempo e, na medida que os usos históricos desses espaços (figuras 140 e 141) cessaram, eles se converteram em “área residual, subutilizada, em profundo estado de degradação social e, ainda mais grave, ambiental. Era espaço em que desaguavam ligações clandestinas de esgoto [ao córrego dos Contos] e para onde vizinhos lançavam livremente seus detritos” (KOPPKE, 2017, p.44).
FIGURA 141: Trecho do Mapa do Vale dos Contos. FONTE: BONDUKI, 2010, p.216.
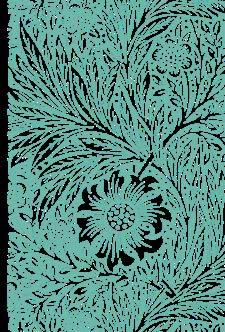
140
A primeira tarefa desse projeto, portanto, foi estabelecer limites entre o público e o privado nesse miolo de quadra. Antes da intervenção os moradores haviam realizado acréscimos e construído novos edifícios próximos ao córrego. Portanto, foi necessária uma minuciosa investigação para de algum modo reestabelecer esses limites e delimitar o que seria o parque público. De maneira geral, as linhas de proteção da margem do córrego dos Contos foram usadas para essa demarcação. A expectativa era que, ao criar um ambiente público nesse miolo de quadra, haveria maior supervisão da integridade das fachadas dessas casas (KOPPKE, 2017).
Outro elemento importante do projeto foi a fundamentação das preexistências, principalmente na área do Vale dos Contos, espaço que já havia sido parcialmente apropriado pelos moradores. Nessa localidade, os projetistas teriam compreendido, segundo a professora Karolyna Koppke, que o ideal seria “garantir melhores condições de uso” (2017, p.47). Desse modo, respeitaram o percurso já existente e construíram uma quadra de grama sintética (figura 142) em cima de onde já havia um campo de futebol
FIGURA 142: Vale dos Contos, quadra (esquerda), córrego (centro) e cami nho (direita).
FONTE: Google Street View (Acessado em: 16/06/2022).



improvisado. No aspecto paisagístico, mantiveram o uso de plantas frutíferas e hortaliças que outrora haviam sido cultivadas nesses quintais.
Também foram criadas novas conexões (figura 143) como o acesso aberto na rua Padre Rolim que permitiu um trajeto entre a rodoviária da cidade e seu centro. A partir desse caminho, foram criadas, também, novas maneiras de se ver Ouro Preto, novas vistas. É o caso tanto da Igreja do Carmo como da Igreja São Francisco de Paula que ganharam perspectivas que antes eram quase inacessíveis (BON DUKI, 2010).
Vemos, então, uma situação que guarda certo grau de semelhança à subárea 2 delimitada na figura 114 (p. 100) deste trabalho. Têm-se um rio ou córrego para onde os fundos de casas se projetam e, tudo isso, em um local que possui construções com valor histórico. A maneira como os arquitetos da Archi 5 interviram nesse espaço de forma singela, sem tentar competir com os edifícios estabelecidos, e consolidando trajetos preexistentes será um dos ob jetivos desse trabalho.
FIGURA 143: Caminho do parque e córrego sob a Ponte dos Contos. FONTE: Vitruvius (<https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitex tos/16.188/5906 > Acessado em: 17/06/2022).
141
3.3. Parque das Águas de Niterói: uma referência programática
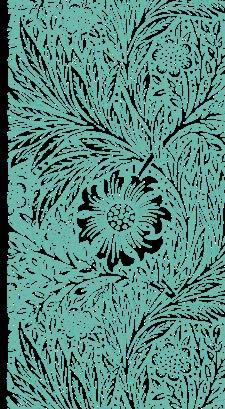

O Parque das Águas Eduardo Travassos (fi gura 144) possui 3,2 hectares e está situado no cen tro de Niterói. Foi inaugurado em 2006 com pouca infraestrutura e, em função disso, pausou suas ati vidades em 2012. O parque, então, passou por uma obra de requalificação projetada e executada pela empresa Ecologus, sendo novamente aberto para o público em 2018.
Ele ocupa boa parte do morro da Detenção e nele se encontra o Reservatório da Correção (1870) (figuras 145 e 146), um dos equipamentos de infraestrutura de fornecimento de água tombados pelo INEPAC em 1998 (FRANCO, 2006c). É o único dos reservatórios inventariados pelo INEPAC em 2006 cujo estado de conservação foi considerado bom.




O gesto de transformar a região do reservatório em parque e tê-lo requalificado provavelmente é um dos motivos que explicam o bom estado de conservação deste reservatório. Desse modo, investigar essa requalificação, mesmo que de maneira exclusivamente programática, pode instruir este trabalho com boas práticas. As principais intervenções realizadas foram a introdução de um elevador público (figura 147) para melhorar a acessibilidade ao parque, em especial para pessoas com dificuldade de locomoção. Ademais, uma série de mobiliários urbanos foi instalada: parquinho, academia da terceira idade, bancos, postes, lixeira. Se somou a isso a construção de um auditório (figura 148) para rece ber eventos educacionais e funcionar como Núcleo de Defesa Civil nas Comunidades (NUDEC) e a recuperação do paisagismo do parque (figura 149).

 FIGURA 144: Vista aérea do Parque das Águas de Niterói. FONTE: Google Earth Pro (Acessado
FIGURA 144: Vista aérea do Parque das Águas de Niterói. FONTE: Google Earth Pro (Acessado
em: 16/06/2022).
FIGURA 145: Reservatório da Correção, frente (esquerda), fundos (direita). FONTE: FRANCO, 2006c, p.1.
FIGURA 146: Interior do reservatório. FONTE: FRANCO, 2006c, p.1.
142
FIGURA 147: Elevador público do Parque das Águas de Niterói.

FONTE: Site EMUSA (<https://emusa.niteroi.rj.gov.br/noticias/> Aces sado em: 19/06/2022).
É possível traçar algumas semelhanças en tre a situação do Parque das Águas e da subárea 2 deste trabalho de conclusão de curso. Nos dois casos, existe uma edificação tombada pelo INEPAC em função do seu valor histórico vinculado ao fornecimento de água. Outrossim, em ambas as situações essas edificações estão a uma considerável diferença de nível da região residencial mais próxima. A solução no Parque das Águas foi a instalação de um elevador urbano que conecta a rua Prof. Alves Machado ao topo do morro da Detenção. Deve-se ponderar se essa também não seria uma solução para nosso caso ligando a rua Almirante Alexandrino à Piscininha do Silvestre e à comunidade do Guararapes. Ainda, se no Parque das Águas o elevador tem a função apenas de garantir o acesso ao topo do morro da Detenção, um equipamento urbano do mesmo tipo na subárea 2 garantiria também acesso mais fácil aos pontos de ônibus da Almirante Alexandrino, principal forma de transporte público para os moradores do Guararapes.

Ademais, o auditório implantado no topo do parque é um equipamento que merece atenção na medida em que cria um abrigo para o desenvolvi-

FIGURA 148: Auditório do parque.
FONTE: blog do Axel Grael (<http://axelgrael.blogspot.com/2017/09/ html> Acessado em: 19/06/2022)

mento de projetos de conscientização junto a popu lação local. Mesmo que nos seja vedada a construção de edifício em função das leis urbanas que operam na região (visto no item 2.2) podemos recorrer ao programa arquitetônico do anfiteatro usado no Parque do Vale dos Contos (item 3.2). Fato é que, como vimos no item 3.1, os conceitos de Gilles Clément precisam ser apoiados por elementos de conscientização para funcionar plenamente. E ainda, se retornarmos mais um pouco para a introdução deste trabalho, temos a definição do esquecimento como uma das problemáticas a serem atenuadas por essa intervenção. Portanto, criar espaços que, de alguma forma, deem abrigo a uma conscientização que confronte o esquecer é um aspecto importante aqui.
FIGURA 149: Caminho no Parque das Águas de Niterói.
143
3.4 Sublime Parasitário

Nesta seção serão apresentadas referências usadas de maneira pontual ao longo do projeto. Como tema comum existem o fato delas possuírem natureza parasitária, ou seja, se alojam oportunis ticamente em uma preexistência.
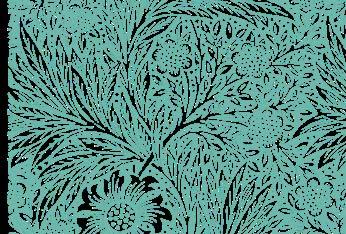
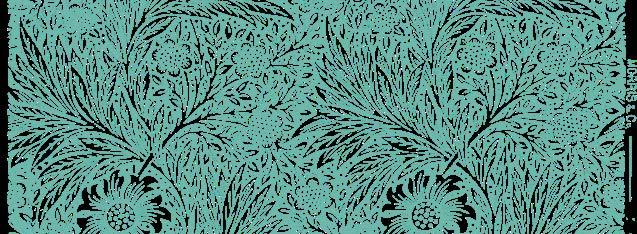
1a
No projeto de recuperação do bairro do Chiado (2015) em Lisboa, Portugal o arquiteto Álvaro Siza (1933) criou conexões entre pontos focais do bairro a partir da introdução de um conjunto de escadarias metálicas.
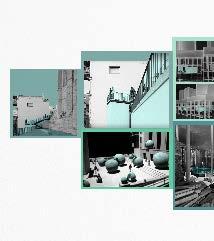
FIGURA 150: Recuperação do Bairro do Chiado.
FONTE: Archdaily. (< https://www.archdaily. com.br/br/01-58125/museu-kolumba-peter -zumthor> Acessado em: 18/09/2022).
FIGURA 151: Escadaria no Bairro do Chiado.
FONTE: Archdaily. (< https://www.archdaily. com.br/br/01-58125/museu-kolumba-peter -zumthor> Acessado em: 18/09/2022).
FIGURA 152: Maquete da Amnésia Topográfica II.
FONTE: Vazio S/A (< https://www.vazio.com.br/> Acesado em 18/09/2022).
FIGURA 153: Amnésia Topográfica II.
FONTE: Vazio S/A (< https://www.vazio.com. br/> Acesado em 18/09/2022).
FIGURA 154: Amnésia Topográfica II.
FONTE: Vazio S/A (< https://www.vazio.com. br/> Acesado em 18/09/2022).
3
Na More Balls for Kapler Plaza (Queen’s College, 1995), de Vito Acconci (1940 - 2017), o arquiteto estadunidense repetiu um elemento esférico que já existia na fachada do edifício conferindo uma sensação de crescimento orgânio para esse novos mobiliários espalhados pela praça.
2a2b2c1b1a1b
144
A Vazio S/A, no grupo de projetos denominados “Amnésia Topográfica” (Belo Horizonte, 2004) usa o conjunto de vigas e pilares existentes para montar escadarias, rampas e plataformas alojadas nessa estrutura.
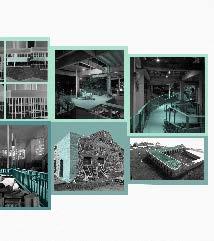
345a5b-

FIGURA 155: More Balls for Kapler Plaza.
FONTE: ZONNO, 2014, p.322.
FIGURA 156: Interior do Museu Kolumba.
FONTE: Archdaily (< https://www.archdaily. com.br/br/01-58125/museu-kolumba-peter -zumthor.> Acessado em: 18/09/2022).
FIGURA 157: Museu do Pampa.
FONTE: Brasil Arquitetura (< http://brasilar quitetura.com/.> Acessado em: 18/09/2022).
FIGURA 158: Render do Museu do Pampa.
FONTE: Brasil Arquitetura (< http://brasilar quitetura.com/.> Acessado em: 18/09/2022).
No Museu Kolumba (Colônia, 2007), Peter Zumthor (1943) cria uma passarela elevada sobre as ruínas de uma igreja destruída na Segunda Guerra. É, portanto, uma maneira de permitir a aproximação do público à ruína e ainda sim preservar sua in tegridade.
A Brasil Arquitetura no projeto do Museu do Pampa (Jaguarão, 2009) destacou sua in tervenção nas ruínas de uma antiga base militar através do uso de materiais e tratamento da su perfície diferentes do existente na ruína. Além disso, o teto verde é usado para proteger a inte gridade da ruína.
2a 2b 2c 4 5a 5b
145
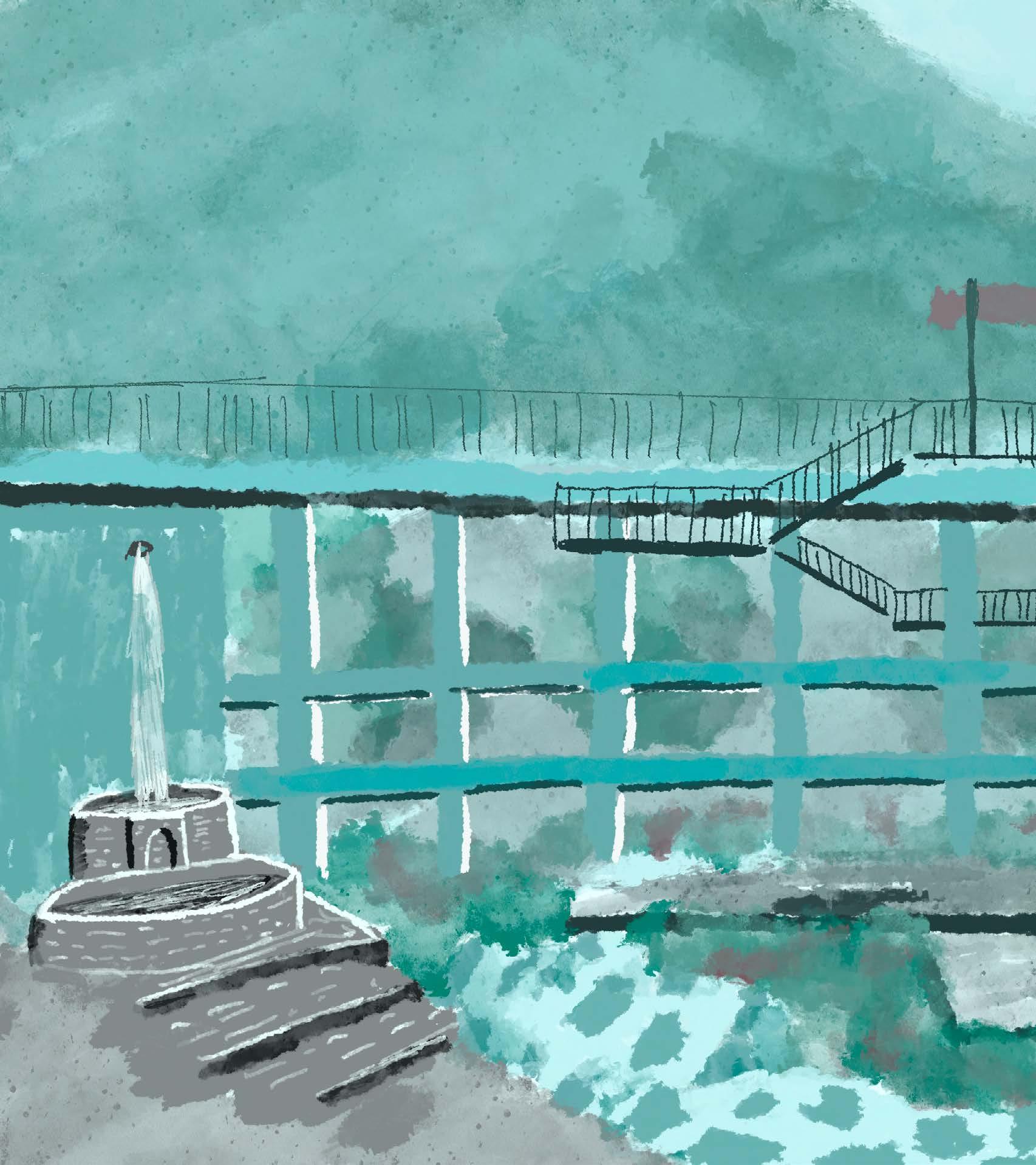
04. Carioca, rio das memórias

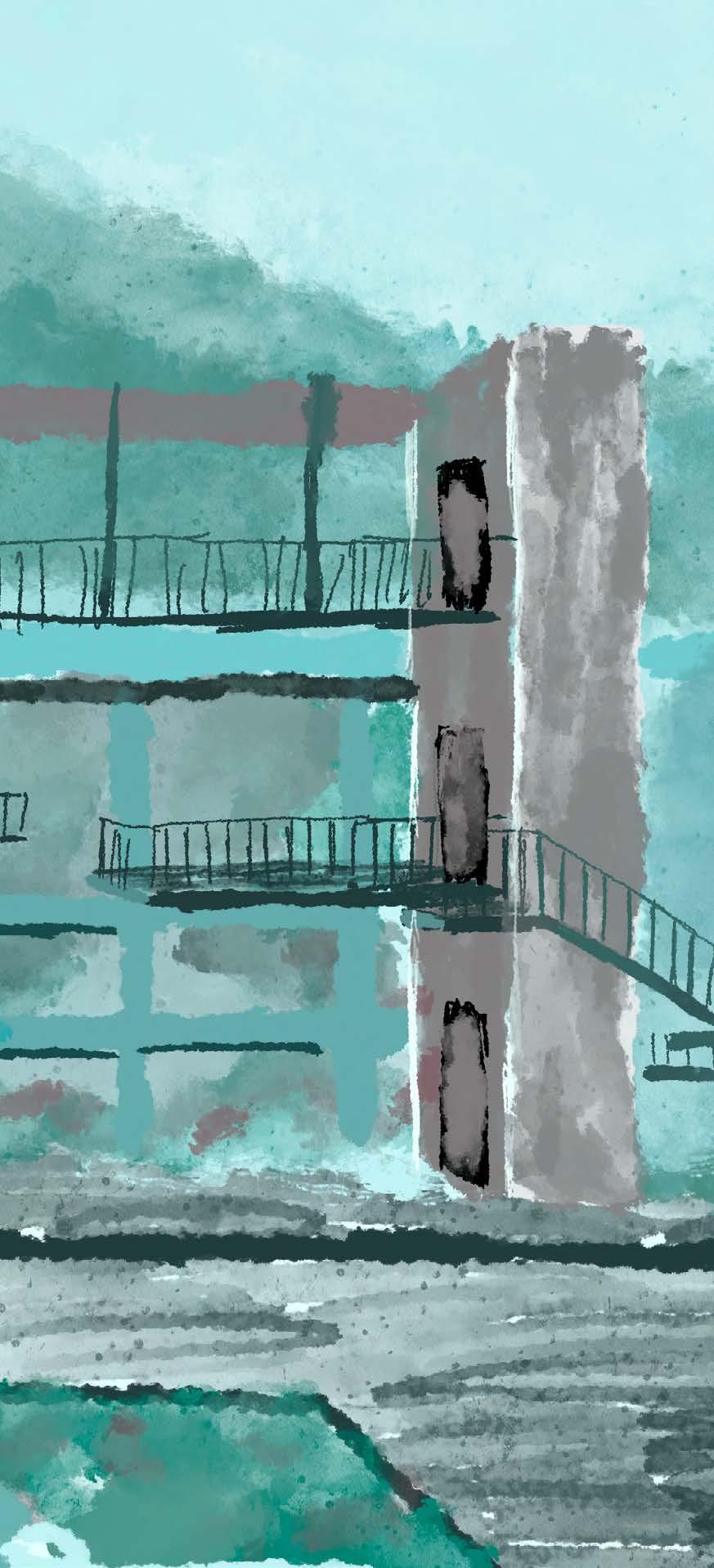
FONTE: Realizado pelo autor
4.1 Masterplan da Intervenção
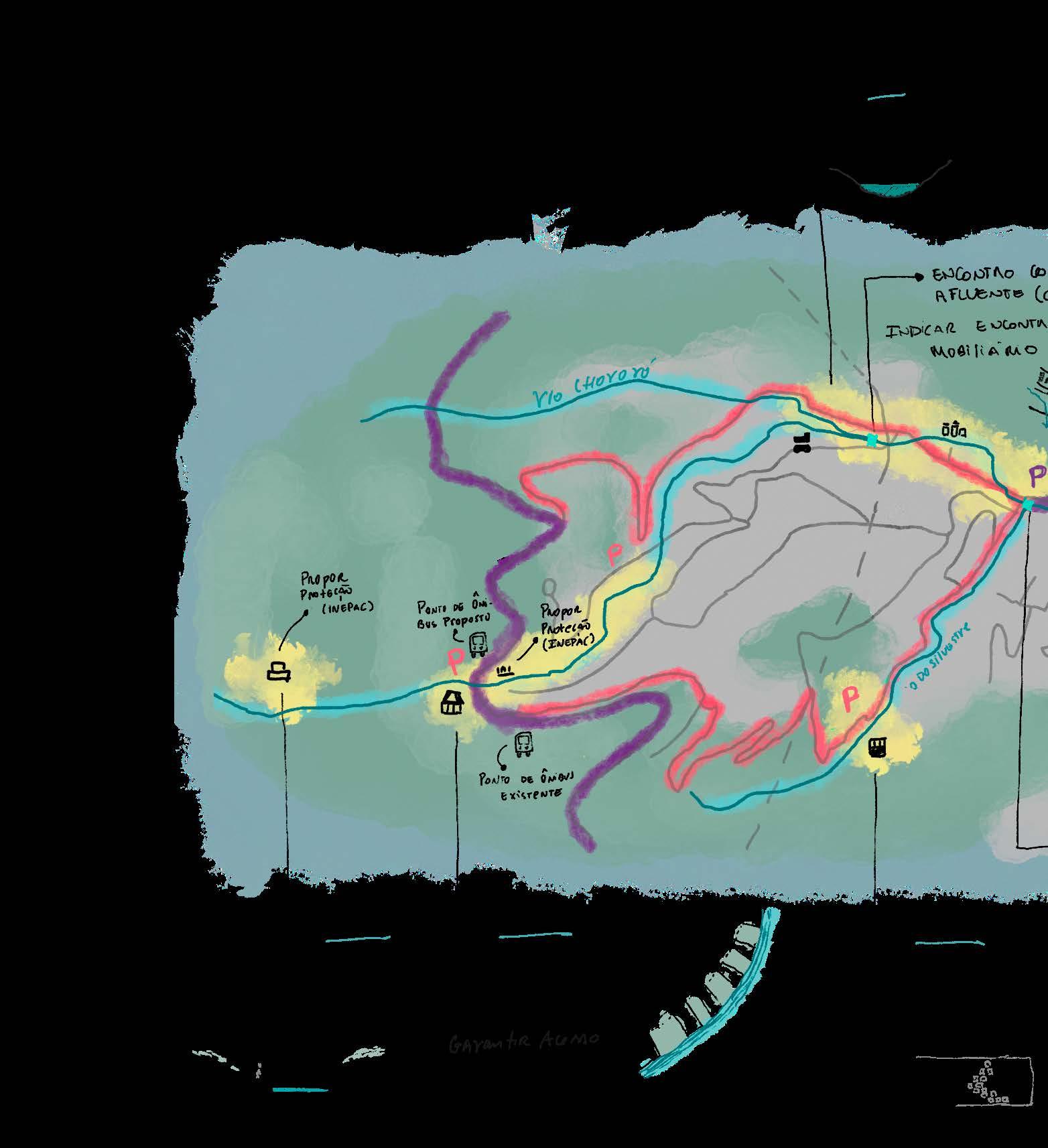
FIGURA 159: Masterplan da interbenção
FONTE: Elaborado pelo autor.


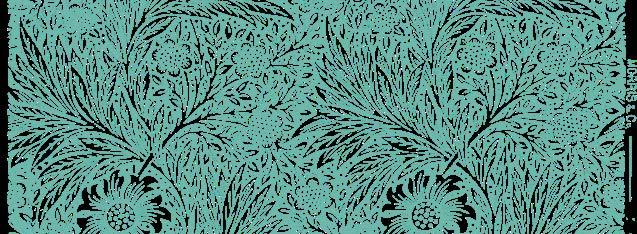
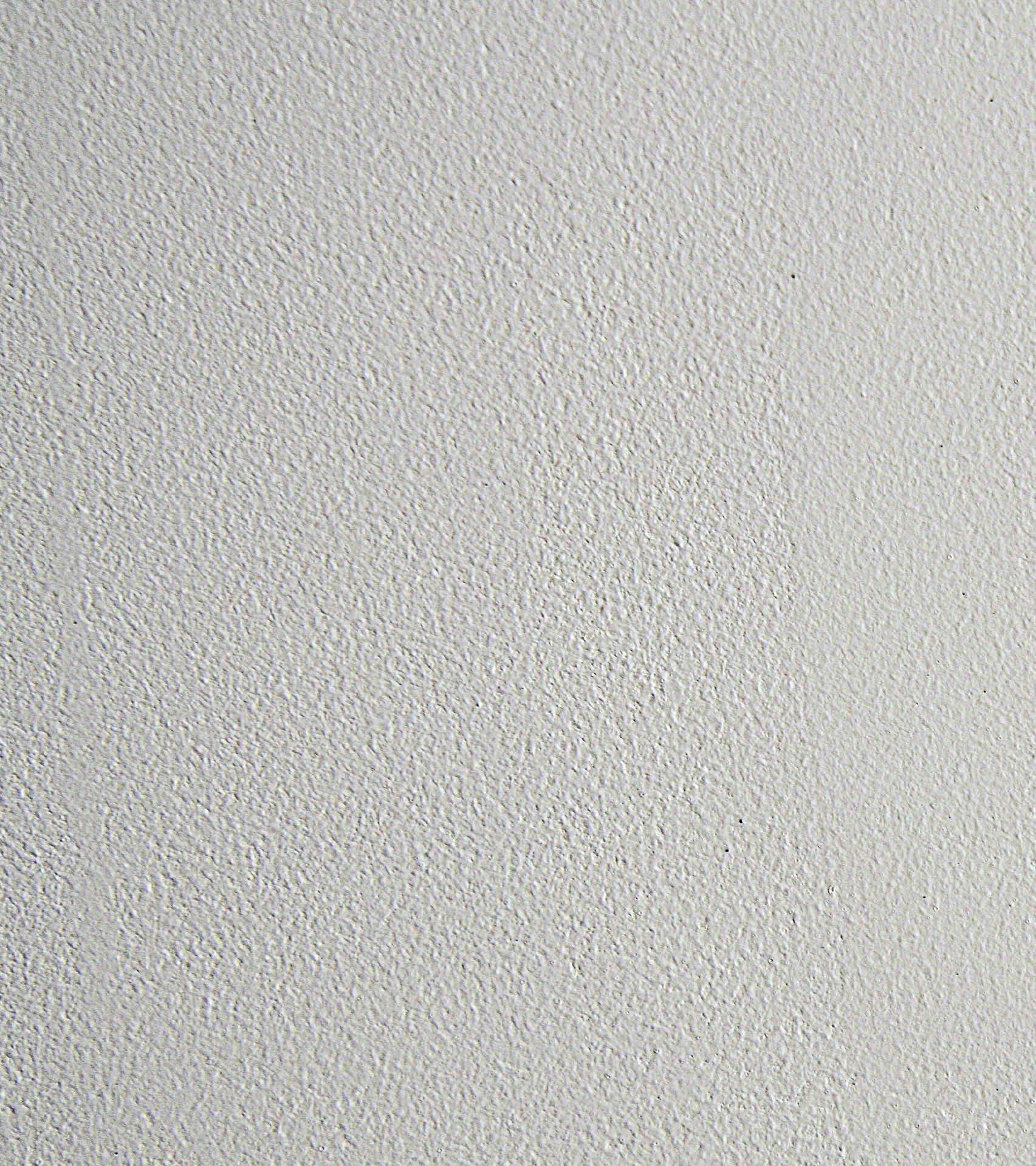
148
Considerando o aspecto fragmentário do rio Carioca, convém delimitar seis subáreas de atuação que correspondem justamente aos locais onde vestígios da nossa relação com o rio ainda estão pre sentes na paisagem


A introdução de novas ciclovias no bairro do Cosme Velho conecta duas outra já existentes criando um circuito que passa por todos os vestígios da interação entre a sociedade e o rio Carioca.
Novos bicicletários a serem locados na rua Conselheiro Lampreia, Reservatório do Carioca e Reservatório do Morro do Inglês dão apoio à essa rede ciclo viária aumentada.
149
4.2 Croquis
SA1 - Banheira do Imperador e ruína da Casa Carioca
A proposta para essa subárea seria a introdução de uma passarela elevada (figura 159) usando como referência o já citado Museu Kolumba (p. 144). Seu objetivo é permitir o trânsito do público de maneira acessível a esses sítios históricos. Além disso, o

percurso estabelecido pela passarela vai exercer certo grau de controle dos fluxos de pessoas pela região diminuindo os eventuais danos causados por esse trânsito ao sítio.
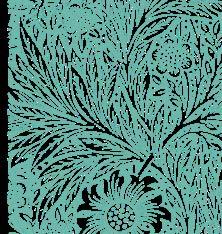
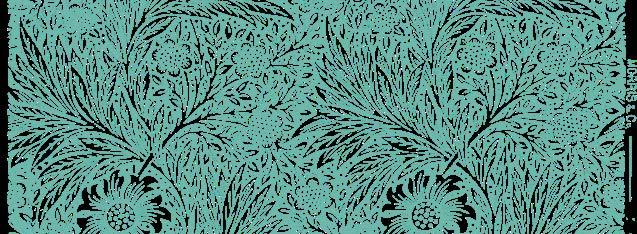
Além disso, deve-se criar proteção específica para este sítio junto ao INEPAC através do seu tombamento. Essa nova proteção deve se aliar a um conjunto de cuidados (remoção de folhagem seca, reparo dos danos causados pelo vandalismo ocorrido em 2006, introdução de sinalização) de maneira que se retarde seu processo de degradação.
FIGURA 160: Croqui da Intervenção na Banheira do Imperador. FONTE: Elaborado pelo autor.
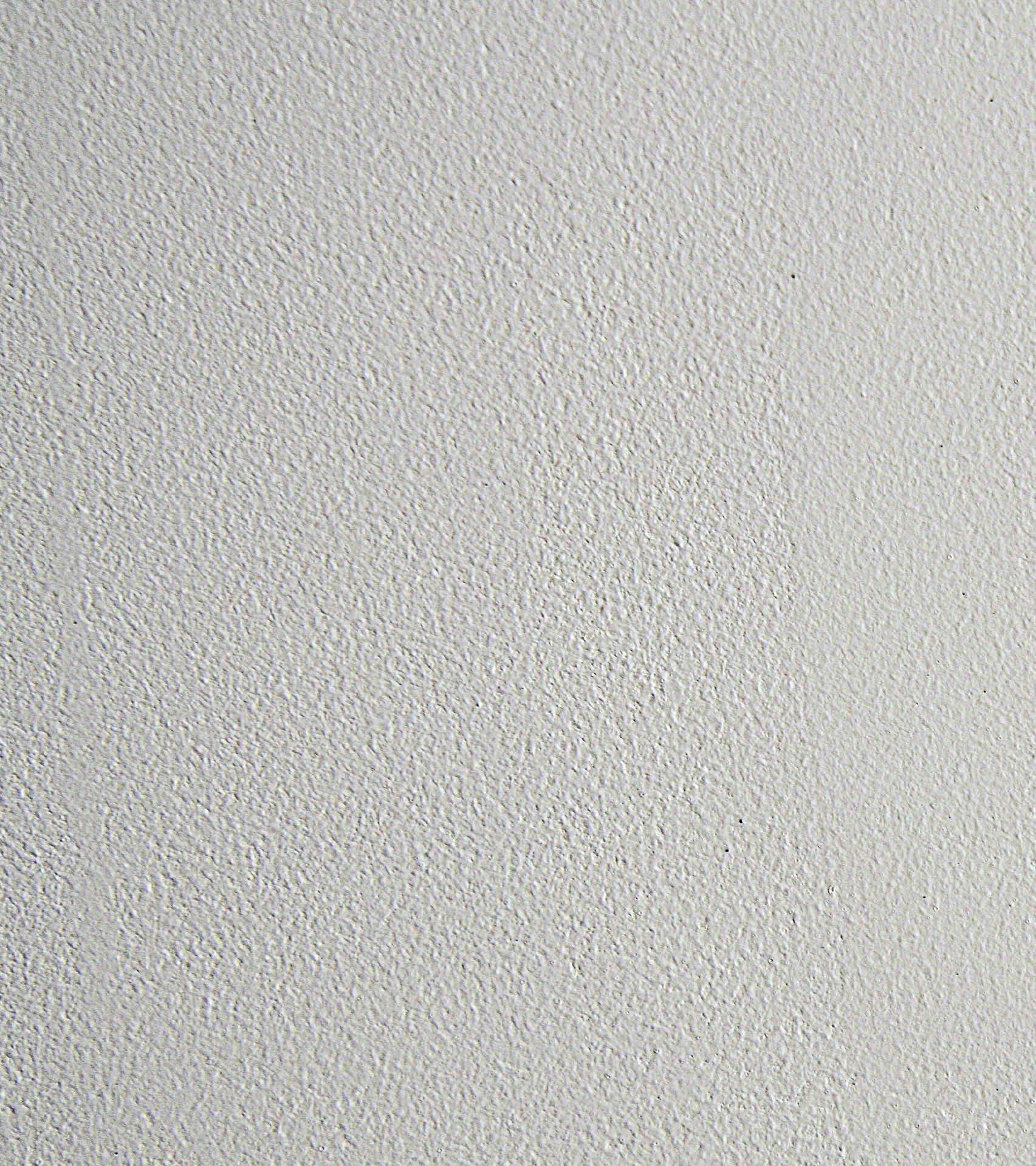
150
FIGURA 161: Croqui da Intervenção nas cisternas do Reservatório do Carioca.
FONTE: Elaborado pelo autor.



SA2 - Reservatório do Carioca + Piscinha do Silvestre + Baldios
Essa é a maior subárea definida para este projeto. O desafio aqui é múltiplo: comunicar a história do rio e realizar ou consolidar conexões e locais de permanência tanto para visitantes como para os moradores da região.
Nas cisternas do Reservatório do Carioca, minha proposta é usá-las como canteiro para jardins (figura 160), fazendo referência principalmente à in-
tervenção paisagística de Gilles Clément no terraço da Base Submarina de Saint-Nazaire (p. 136). Meu objetivo com isso é contribuir para a ressignificação da nossa relação com o rio Carioca e reforçar o caráter contemplativo que já existe no local.
Para consolidar a potência pedagógica do sítio, a Casa do Cloro será convertido em centro de exposição sobre a história do Carioca aberto ao público.
Ademais, é importante que se mantenham processos para evitar a degradação do Reservatório (como a limpeza de sujidades). Mas que respeitem as marcas do tempo e a vocação do local como Tercei ra Paisagem.
151

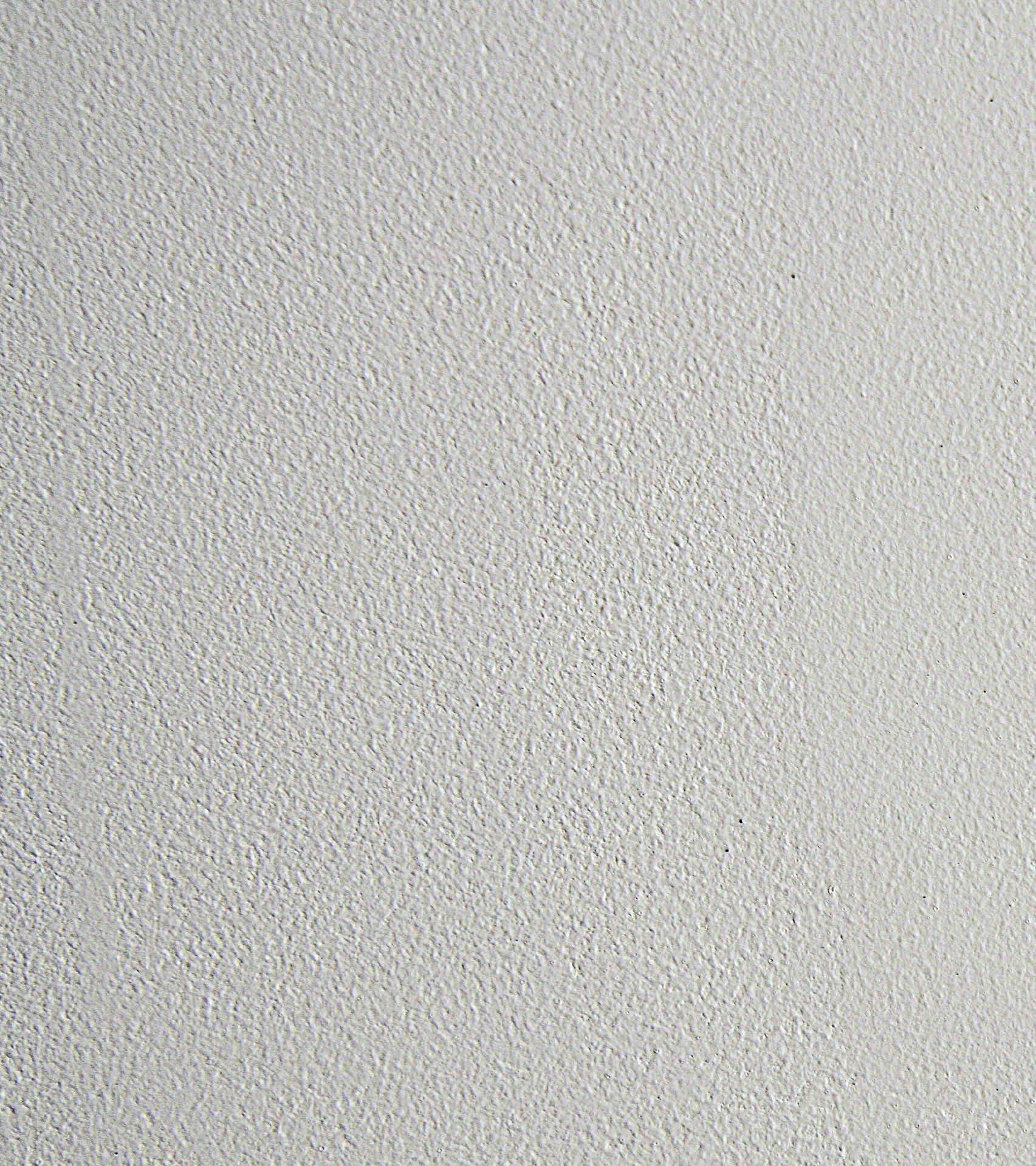

152
FIGURA 162: Croqui da Intervenção no jardim do Reservatório do Carioca.
FONTE: Elaborado pelo autor.


Já no jardim do Reservatório, a minha proposta é lançar mão do conceito de Terceira Paisa gem do paisagista Gilles Clément criando um novo equilíbrio entre as espécies já adaptadas ao local identificadas no item 2.2 (p. 119) e a necessidade de manter esse jardim caminhável e acessível.

153
FIGURA 163: Croqui da Intervenção na Piscini nha do Silvestre.
FONTE: Elaborado pelo autor.


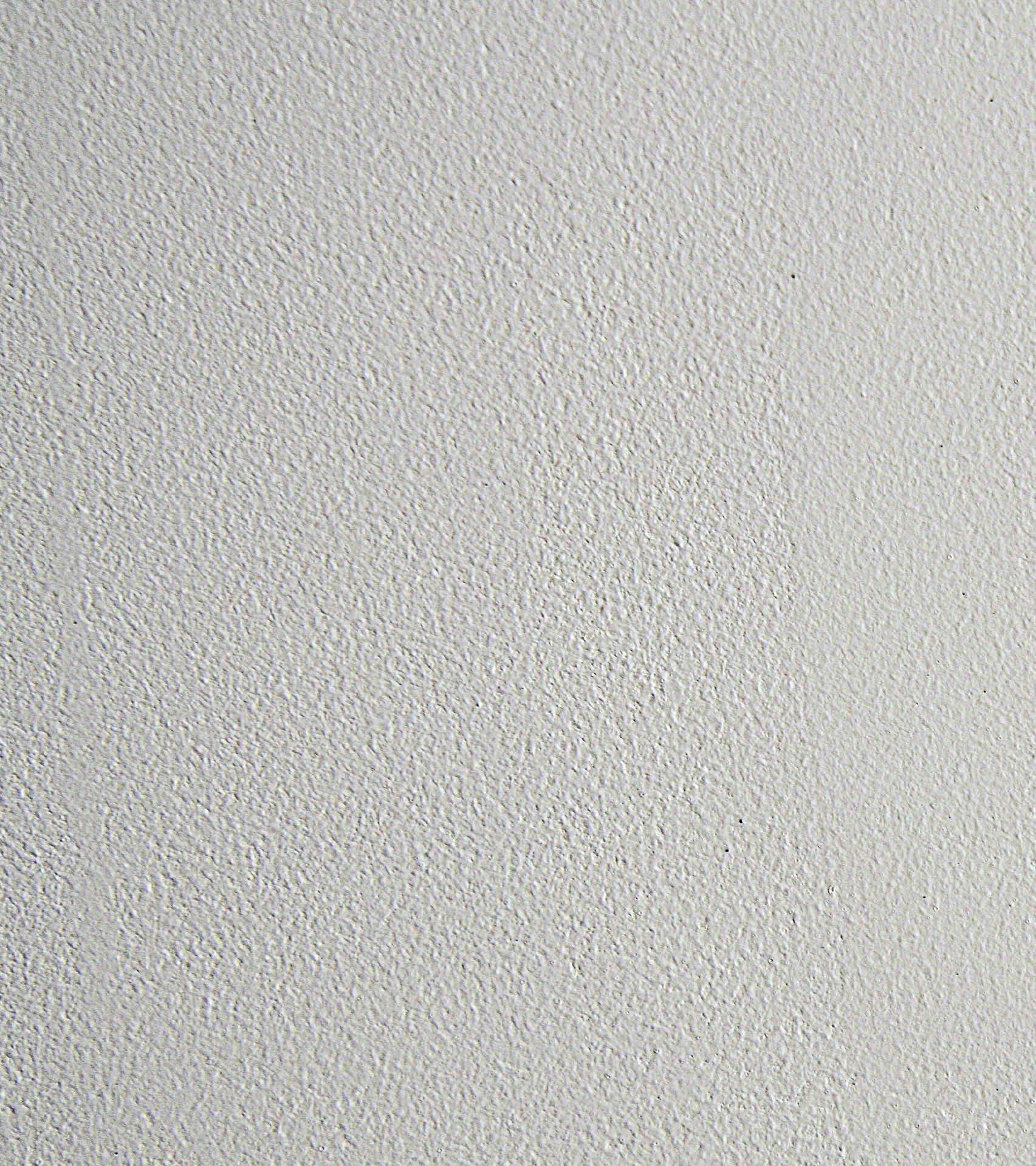
Na Piscininha do Silvestre, o maior desafio é vencer a diferença entre o seu nível e o da rua Almirante Alexandrino. Para isso, propus a implementação de um elevador urbano (figura 163) fazendo referência ao Parque das Águas de Niterói.
Todavia, a calçada existente nesse lado da rua Almirante Alexandrino é estreita o que tornaria o acesso ao elevador neste nível inadequado. Para solucionar esse problema considero a expansão dessa calçada com uma plataforma em balanço que usa os próprios pilares que sustentam a rua Almirante Alexandrino nesse trecho para sua sustentação.
154

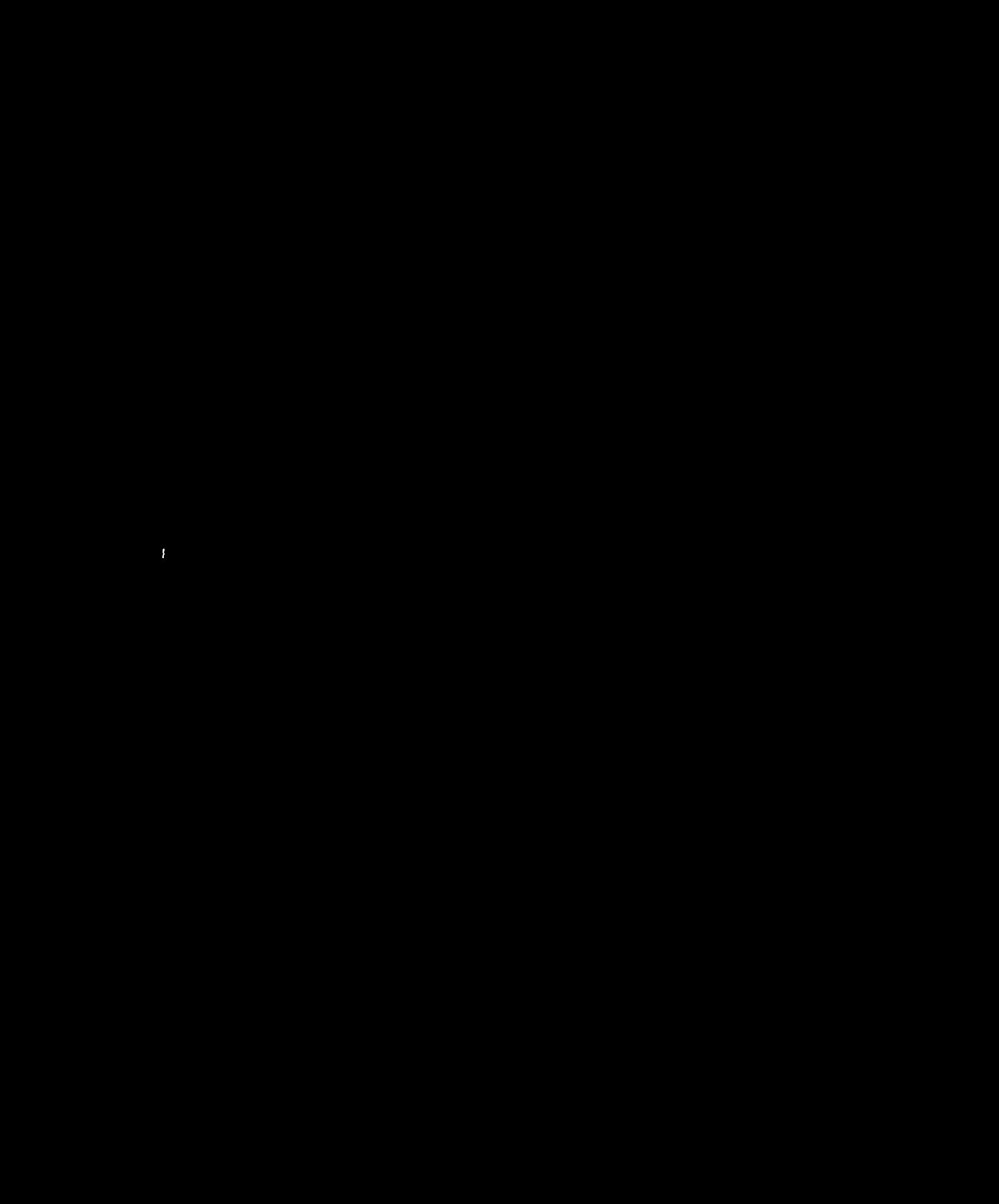

155
FIGURA 164: Croqui da intervenção na fachada do Reservatório do Mor ro do Inglês. FONTE: Elaborado pelo autor.
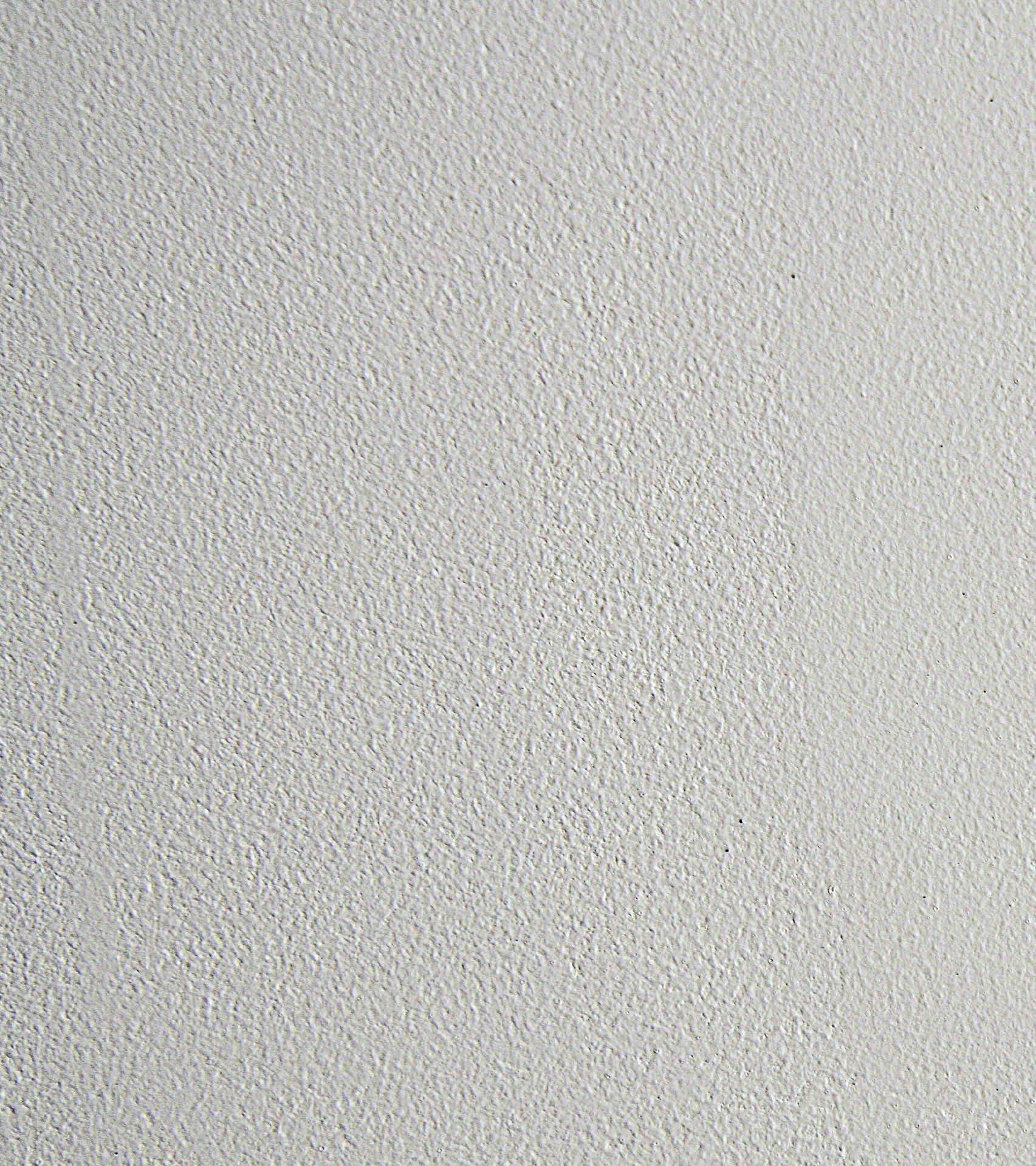
SA3 - Reservatório do Morro do Inglês


Minha proposta (figura 164) para o Reservatório do Morro do Inglês é o seu restauro seguindo as premissas das teoria brandiana para que ele possa abrigar um novo centro cultural que atenda principalmente à população local. Uma nova rampa garantirá acessibilidade ao sítio. Além disso, a pre-
sença do rio do Silvestre será indicada a partir da introdução de jardins verticais, jardineiras e piso especial que destacará o trajeto do rio nas imediações do reservatório.
156
FIGURA 165: Croqui da intervenção no canal ao lado do Largo do Boti cárrio.
FONTE: Elaborado pelo autor.



SA4 - Os canais do rio Carioca
Nesta subárea, creio que o mais relevante é evidenciar a existência do rio na paisagem. Para isso, o guarda-corpo que protege o canal será substituído por um metálico e vazado, permitindo assim maior visibilidade para as águas do Carioca (figura 165).
Além disso, será instalado conjunto escalo nado de longos bancos que transformarão a margem do rio em um ambiente de repouso para a população.
É também importante que os jardins sejam renovados seguindo a mesma postura que orientou a concepção da intervenção no jardim do Reservatório do Carioca.
157
FIGURA 166: Croqui da intervenção na Bica da Rainha. FONTE: Elaborado pelo autor.
SA5 - Bica da Rainha


Para mim, o mais importante na Bica da Rainha é recuperar sua relação com a rua. Escondida atrás de uma grade cerrada a cadeado e estando em um nível abaixo do da calçada, a interação das pessoas com esse sítio está praticamente anulada.
Para reverter esse quadro, proponho (figura 166) a remoção completa da grade e a introdução dos mesmos elementos usados na SA3 (p. 154) para sinalizar a existência do rio nesse trecho.
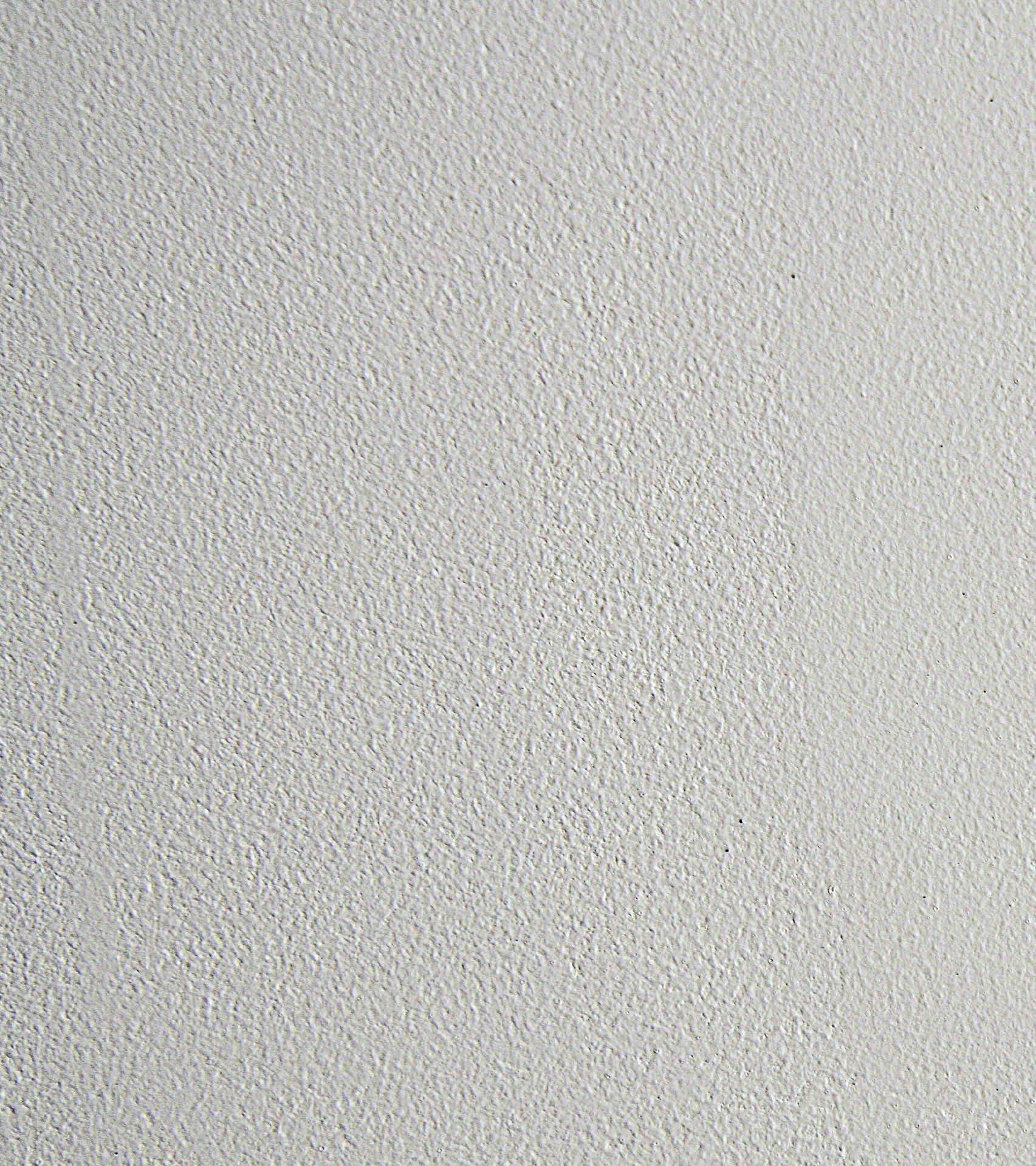
158
SA6 - Foz do rio Carioca
Único local de intervenção fora do bairro do Cosme Velho, aqui a prioridade para mim é trazer o rio de volta para a paisagem, inclusive recuperando sua margem (figura 167).
Caminhos já estabelecidos do Parque do Flamengo serão mantidos. O deck de madeira, que é uma adição posterior ao projeto do parque será removido e jardins com características semelhantes ao proposto para o Reservatório do Carioca serão mantidos na margem do rio.
Os novos equipamentos urbanos deverão ser singelos para minimizar qualquer perturbação à paisagem.
FIGURA 167: Croqui da intervenção na foz do rio Carioca.
FONTE: Elaborado pelo autor.

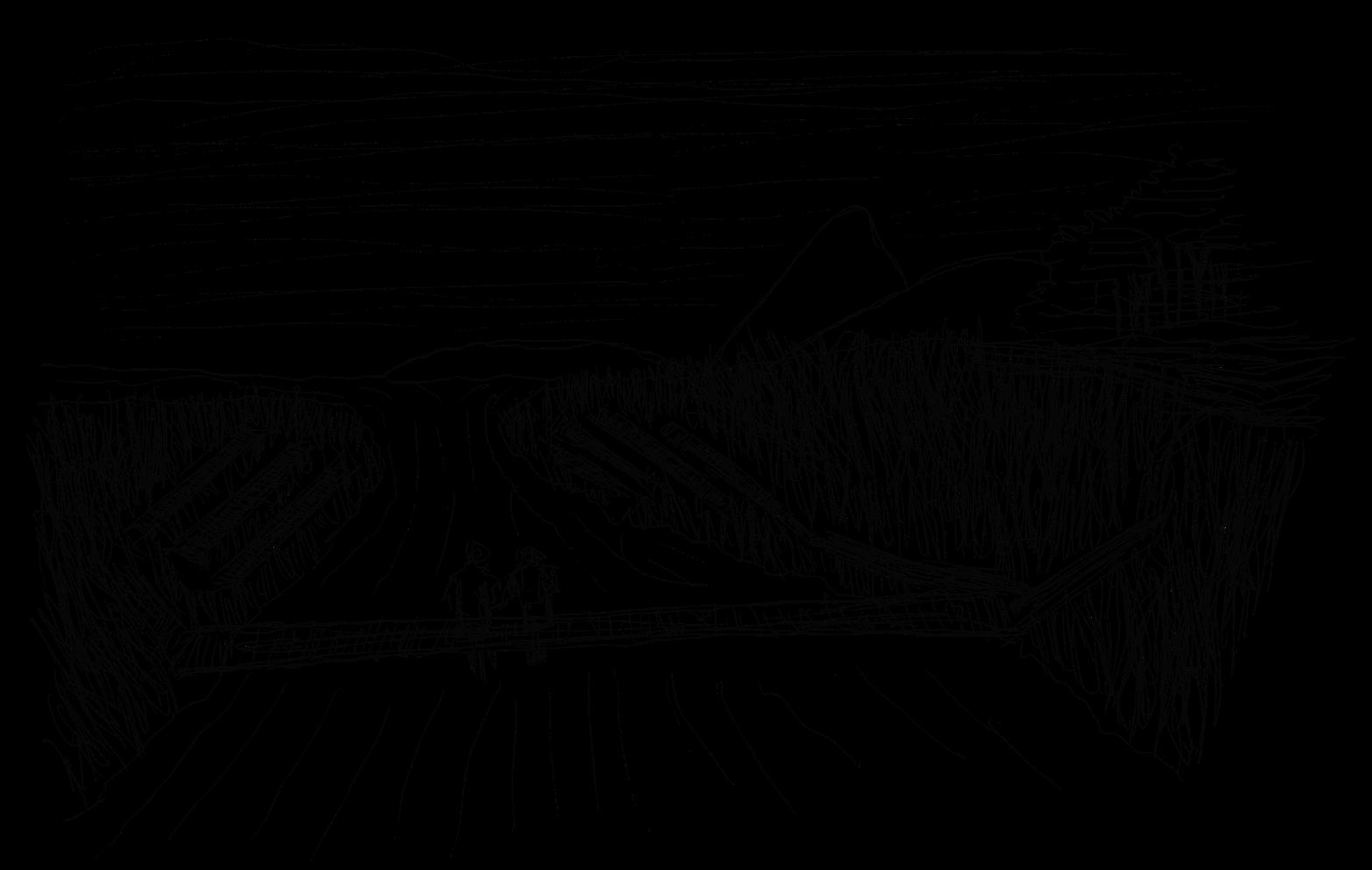

159
4.3 Materiais e Técnicas
Neste projeto é funda mental que os materiais e técnicas empregados atendam a alguns princípios básicos:

- Devem ter aparência leve e que não comprometa a paisagem.
- Não podem acarretar emfalso histórico.
- Não podem causar problemas de drenagem.
- O canteiro de obra deve ser limpo e ter pouco impacto na paisagem.
- A intervenção deve ser reversível.
FIGURA 168: Desenho esquemático da moldura de vigas metálicas sus tentando placa de gradil vazado.
FONTE: Elaborado pelo autor.
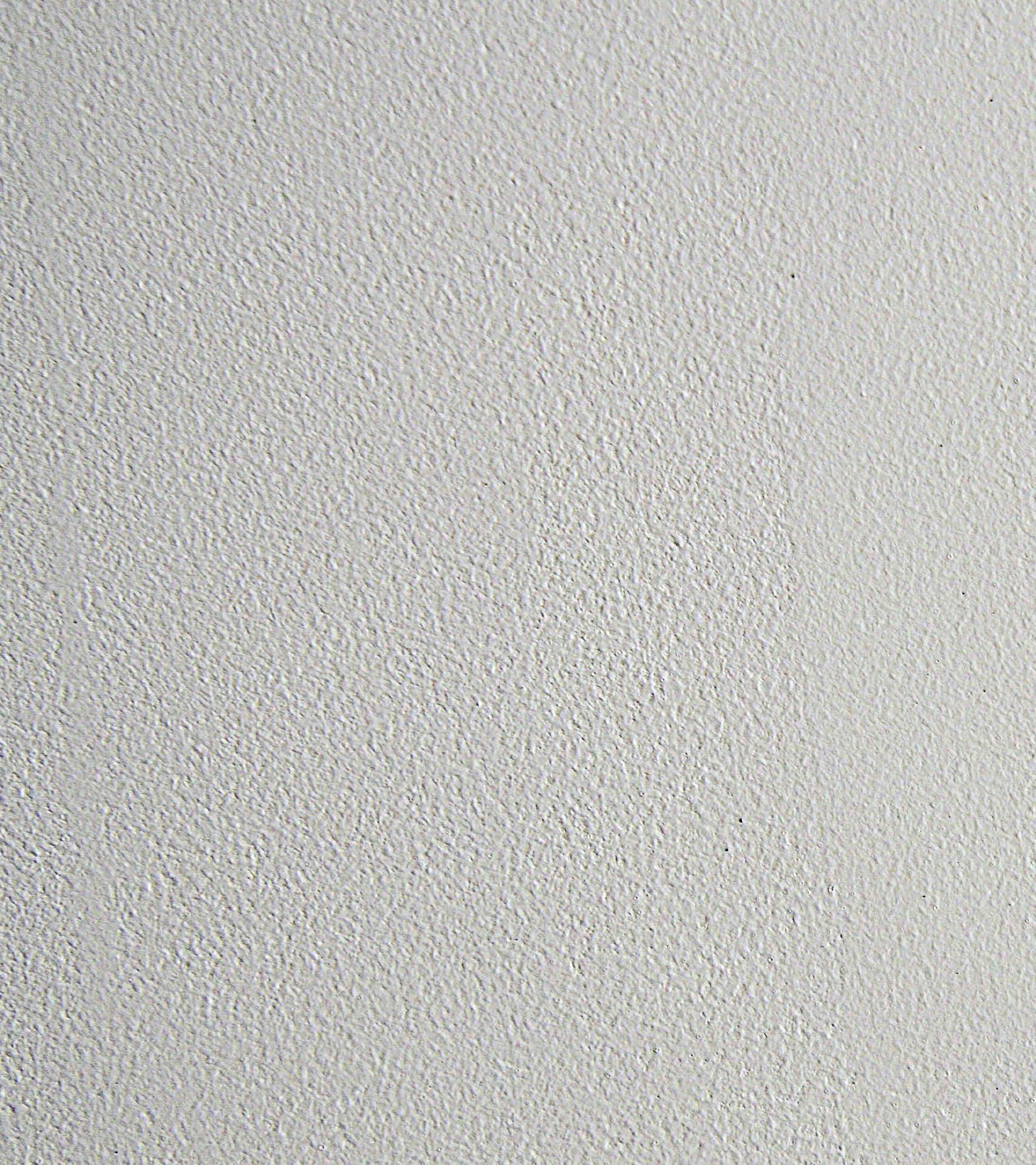
FIGURA 169: Desenho esquemático da moldura de vigas metálicas sus tentando placas de concreto e cantaria.
FONTE: Elaborado pelo autor.

A estrutura metálica é um material que atende a esses re quisitos básicos. O uso de gradil metálico (figuras 168, 170, 171 e 172) permite que a água das chu vas continue penetrando no solo. Uma fundação simples (figura 175) com bloco de concreto e pilar metálico diminui o contato das estruturas propostas com o solo.
O mesmo elemento, um requadro metálico com gradil vazado no interior pode ser usado na concepção de jardins verticais (figura 173) o que ajuda na criação de uma linguagem da intervenção.
Já para marcar os percursos, serão utilizados os mesmos requadros metálicos agora com piso de cantaria. Dessa maneira, é feita uma referência à materialidade já empregada na região e é criado uma lógica interna para o emprego desse material uma vez que ele passa a indicar fluxo de pessoas.
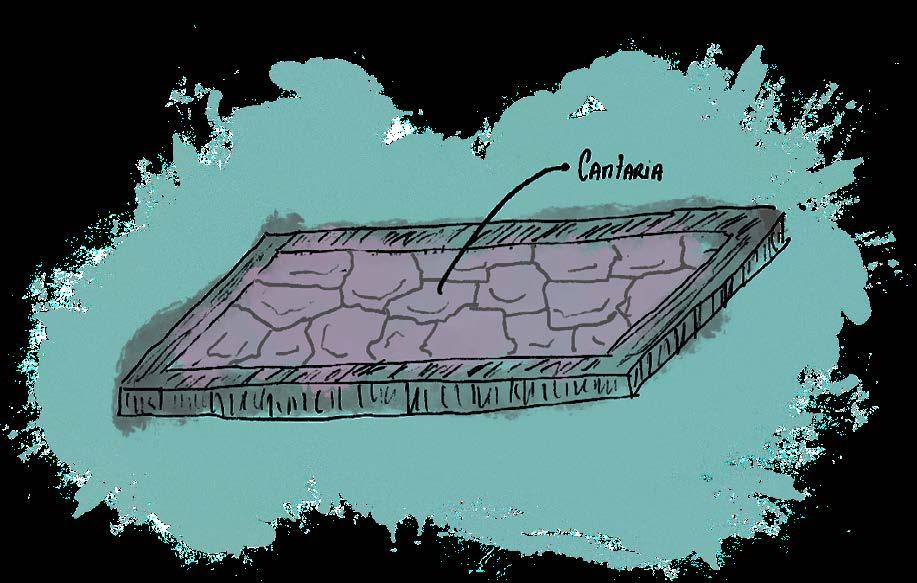
160
FIGURA 170: Guarda-corpo metálico com hastes verticais.
FONTE: Elaborado pelo autor.
FIGURA 172: Corte esquemático da laje com gradil.
FONTE: Elaborado pelo autor.
FIGURA 171: Desenho esquemático mostrando a relação entre vigas principais e vigas secundárias.
FONTE: Elaborado pelo autor.
FIGURA 173: Elemento para composição do jardim Verti cal.

FONTE: Elaborado pelo autor.
FIGURA 174: Corte esquemático da laje com cantaria.
FONTE: Elaborado pelo autor.

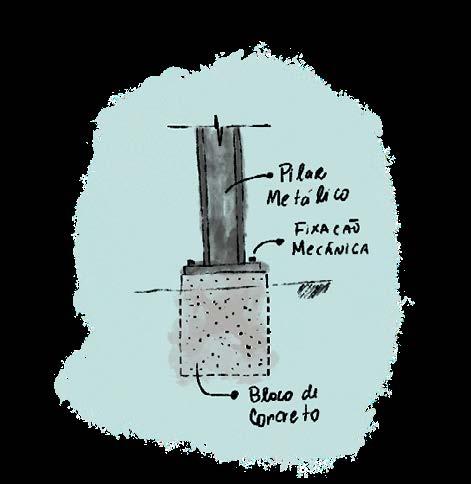
FIGURA 175: Desenho esquemático da fundação.
FONTE: Elaborado pelo autor.

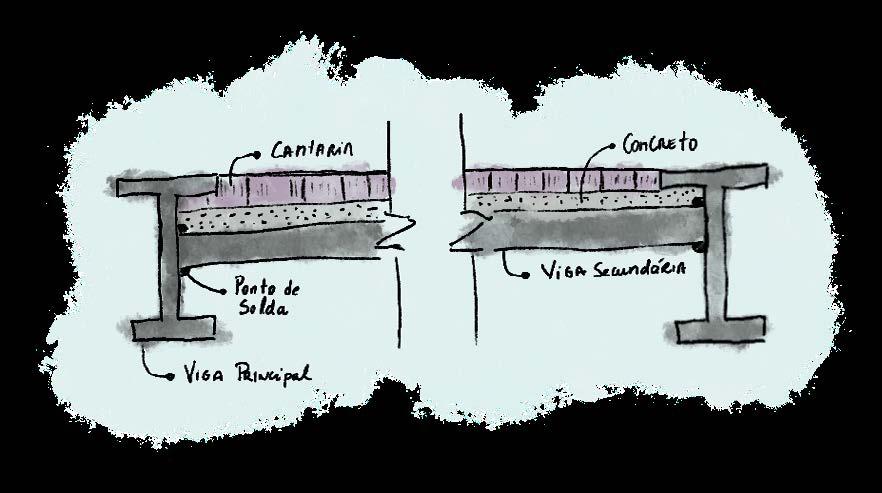

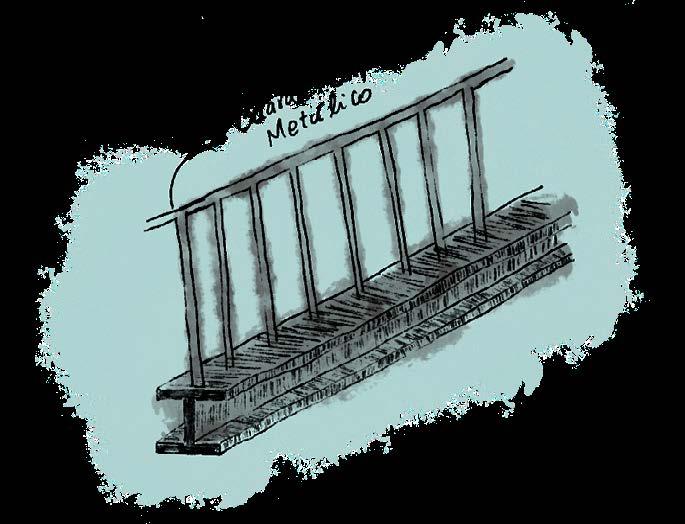

161
A partir daqui, veremos o aprofundamento da proposta na subárea 2. A escolha dessa subárea se deu pois ela contém todos os elementos que se relacionam com o aporte teórico-metodológico deste trabalho: áreas de Terceira Paisagem, patrimônio em estado de ruína.
Nesta vista esquemática (figura 176), podemos observar como a intervenção consolida as conexões da via Carioca com a rua Conselheiro Lampreia, com a Piscininha do Silvestre e com a rua Almirante Alexandrino. A partir de agora, veremos com maior detalhe o que foi realizado em cada um dos itens apresentados na figura 176.

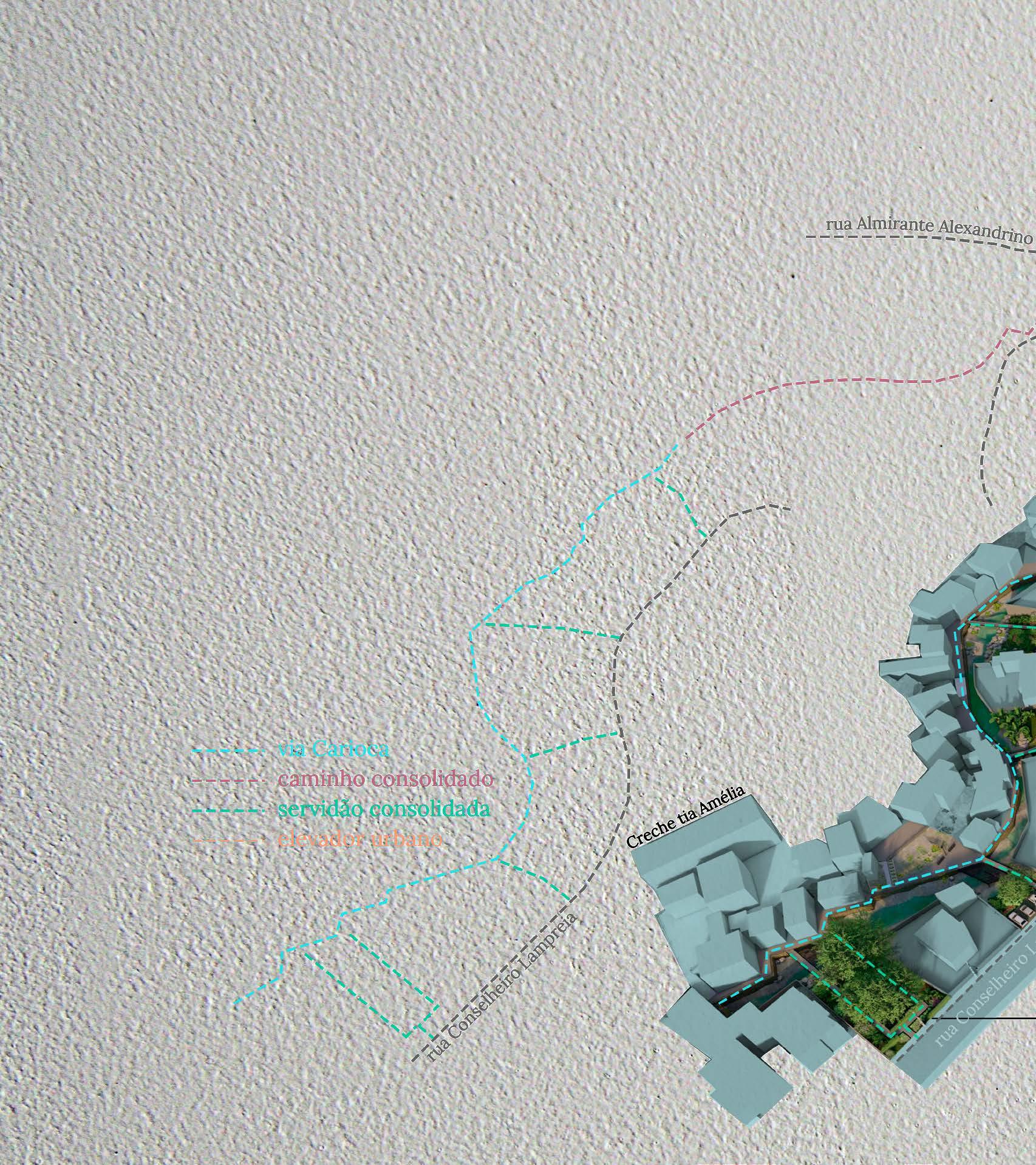
162
FIGURA 176: Esquema geral da intervenção na subárea 2.. FONTE: Elaborado pelo autor.

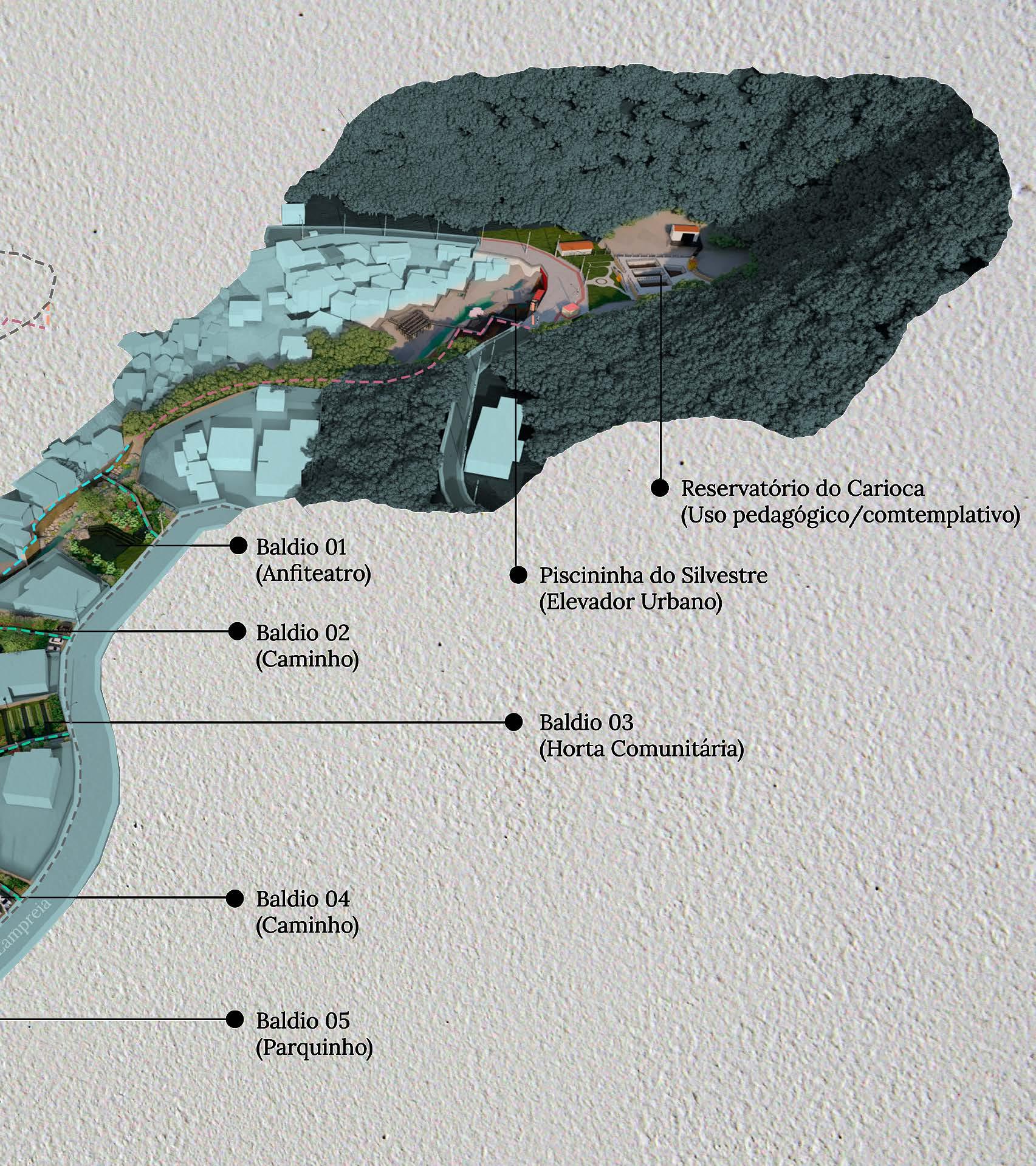
163
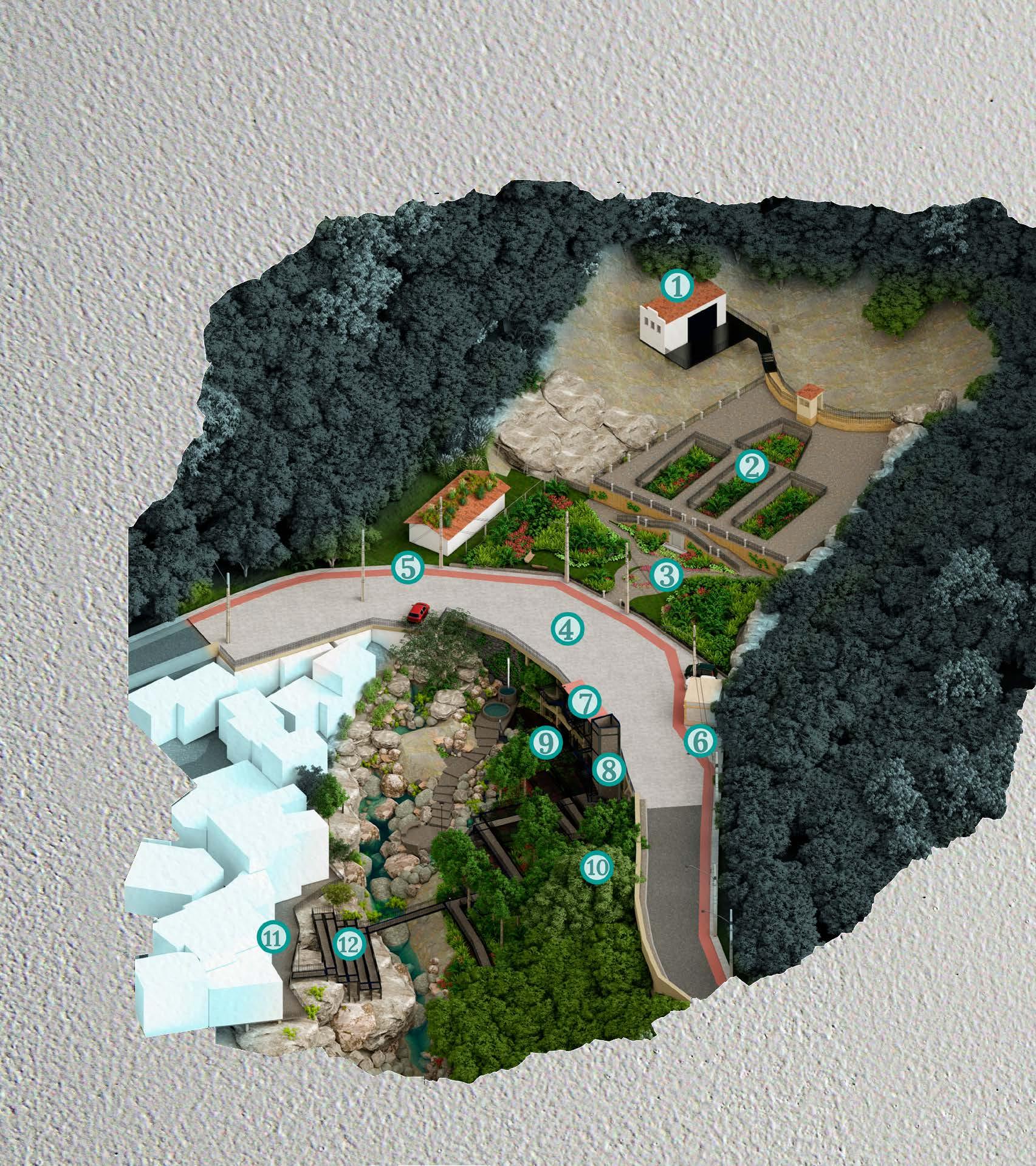
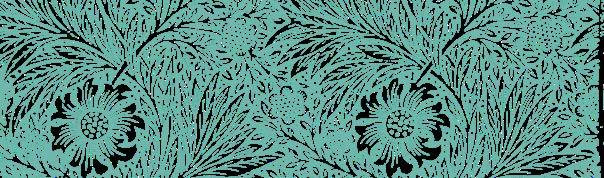


FIGURA 177: Reservatório do Carioca e Piscinha do
Silvestre.
1 FONTE: elaborado pelo autor. 1 Desenhos técnicos
referentes
ao
Reservatório,
à
Piscininha
do
Silvestre
e
aos baldios podem ser encontrados
no
Anexo
I
deste trabalho.
164


165
Reservatório do Carioca e rua Almirante Alexandrino
A intervenção no Reservatório se concentra na conversão das cisternas (figura 182) e do jardim (figura 179 e 180) em espaços de contemplação, uma vez que já apresentavam vocação para esse fim. Prestigia-se a compreensão desses locais como Terceira Paisa gem e, portanto, a redução da interferência humana pode trazer a eles maior diversidade biológica.






Já na rua Almirante Alexandrino, a introdução de calmante de tráfego (figura 183) coloca o ponto de ônibus (figura 181), a Caixa Mãe d´Água e o Reservatório no mesmo nível. Isso, associado à plataforma metálica em balanço, confronta os problemas causados pela estreita calçada que ali existia.
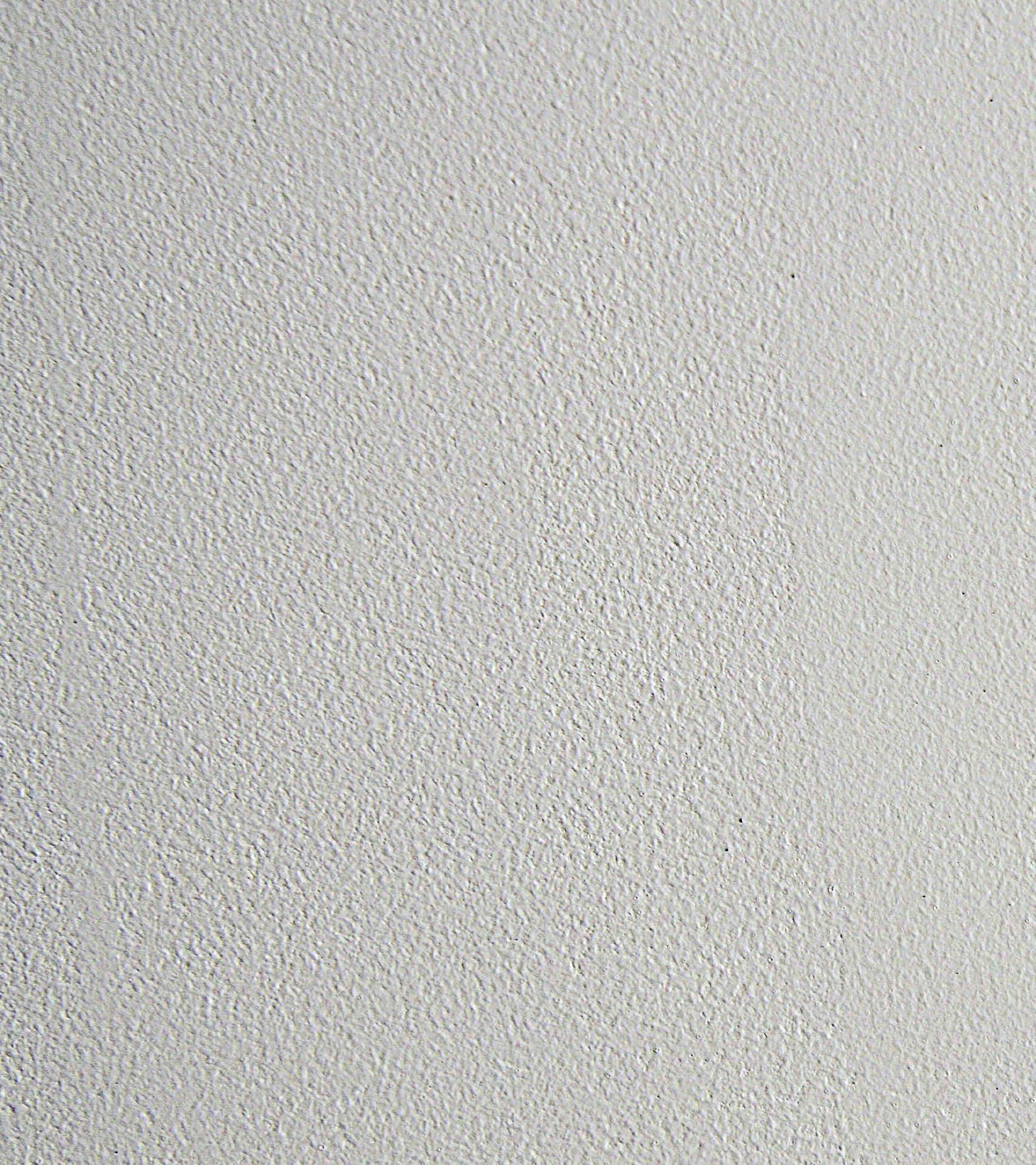 FIGURA 178: Vista aérea da intervenção no Reservatório..
FONTE: Elaborado pelo autor.
FIGURA 181: Intervenção na rua Almirante Alexandrino..
FONTE: Elaborado pelo autor.
FIGURA 179: Jardim em movimento no Reservatório do Carioca.
FONTE: Elaborado pelo autor.
FIGURA 180: Jardim em movimento no Reservatório do Carioca.
FONTE: Elaborado pelo autor.
FIGURA 178: Vista aérea da intervenção no Reservatório..
FONTE: Elaborado pelo autor.
FIGURA 181: Intervenção na rua Almirante Alexandrino..
FONTE: Elaborado pelo autor.
FIGURA 179: Jardim em movimento no Reservatório do Carioca.
FONTE: Elaborado pelo autor.
FIGURA 180: Jardim em movimento no Reservatório do Carioca.
FONTE: Elaborado pelo autor.
166
Alexandrino..



FIGURA 182: Intervenção na rua Almirante Alexandrino.. FONTE: Elaborado pelo autor.



FIGURA 183: Intervenção na rua Almirante Alexandrino.. FONTE: Elaborado pelo autor.

167

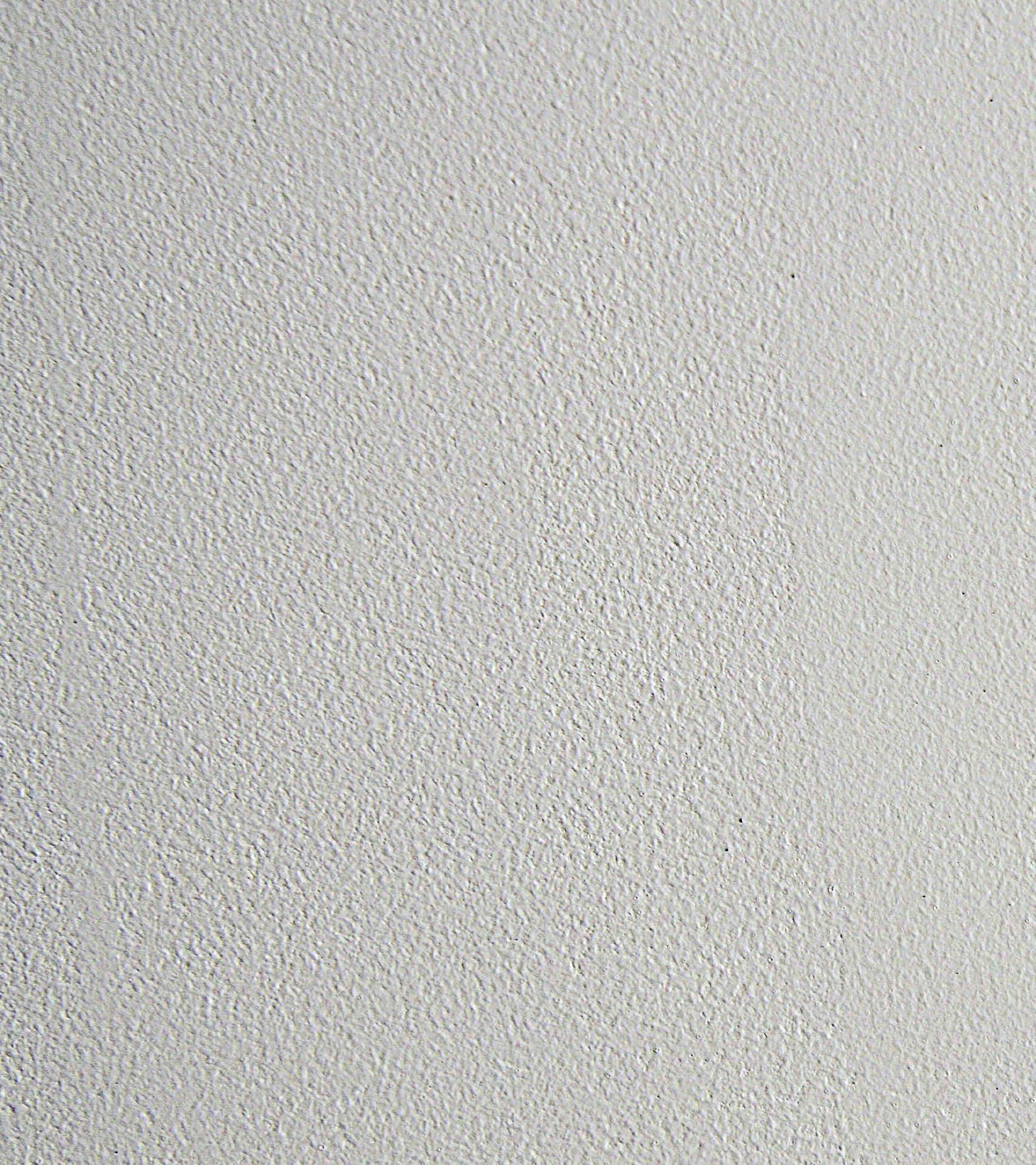

 FIGURA 184: Elevador urbano na Piscininha do Silvestre. FONTE: Elaborado pelo autor.
FIGURA 185: Nova sacada e rampa de acesso à Piscininha. FONTE: Elaborado pelo autor.
FIGURA 186: Chuveiros e bancos dão assistência FONTE: Elaborado pelo autor.
FIGURA 184: Elevador urbano na Piscininha do Silvestre. FONTE: Elaborado pelo autor.
FIGURA 185: Nova sacada e rampa de acesso à Piscininha. FONTE: Elaborado pelo autor.
FIGURA 186: Chuveiros e bancos dão assistência FONTE: Elaborado pelo autor.
168
assistência às piscinas.

FIGURA 187: Vista aérea da intervenção na Piscininha do Silvestre. FONTE: Elaborado pelo autor.




FIGURA 188: Escadaria entre pilares existentes. FONTE: Elaborado pelo autor.
FIGURA 189: Mobiliário para repouso. FONTE: Elaborado pelo autor.

169

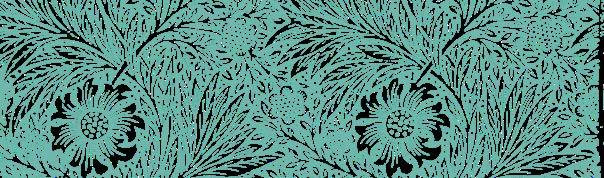


FIGURA 190: Baldio 01 - Anfiteatro. FONTE: elaborado pelo autor. 170
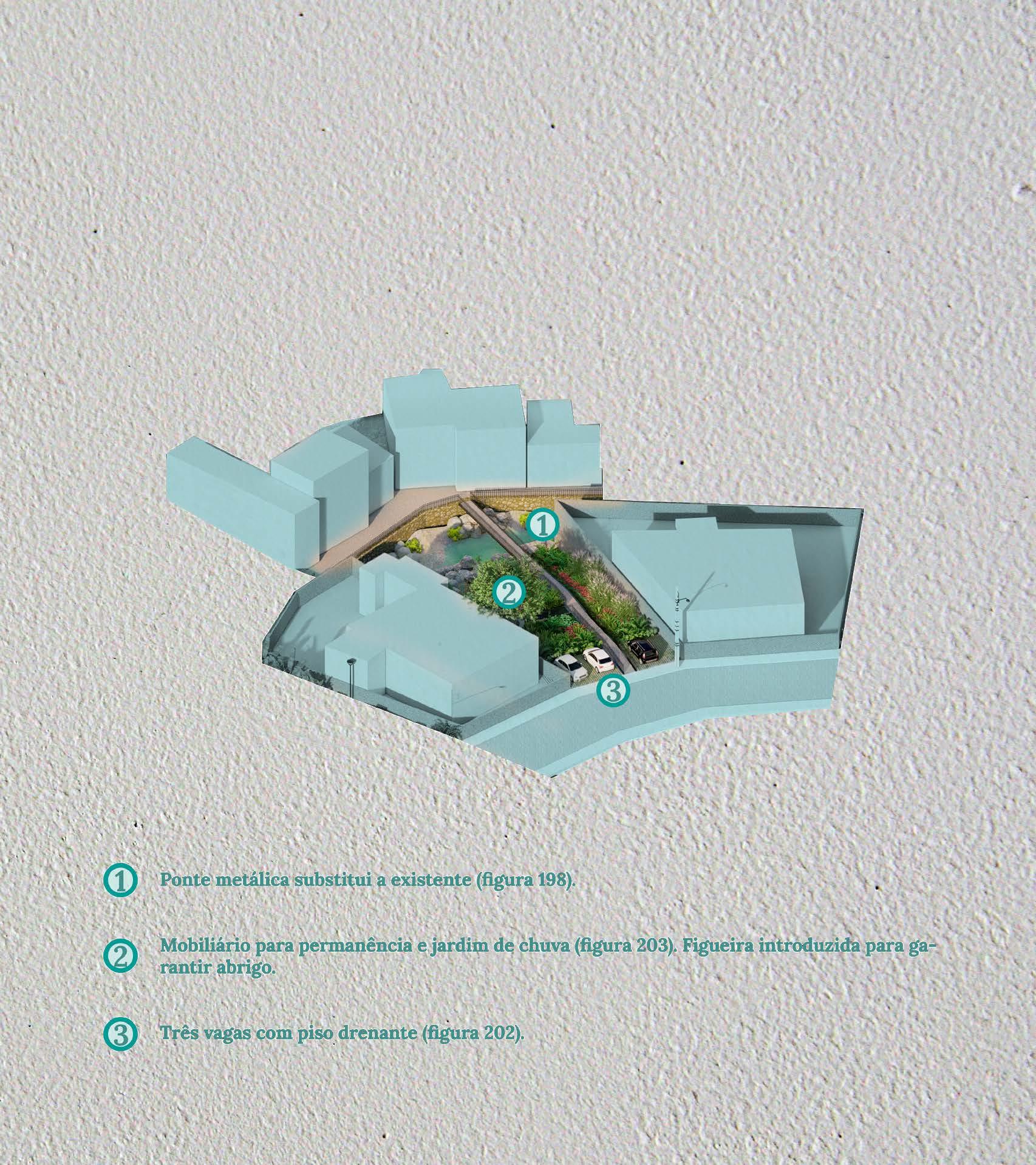
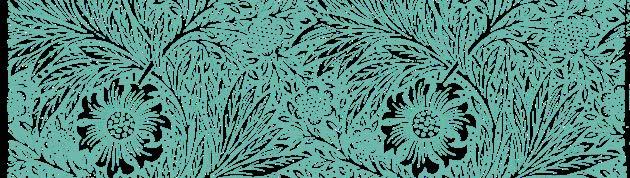


FIGURA 191: Baldio 02 - Caminho. FONTE: elaborado pelo autor. 171
FIGURA 192: Vista aérea da intervenção no baldio 01. FONTE: Elaborado pelo autor.
FIGURA 193: Ponte sobre o rio Carioca no baldio 01. FONTE: Elaborado pelo autor.

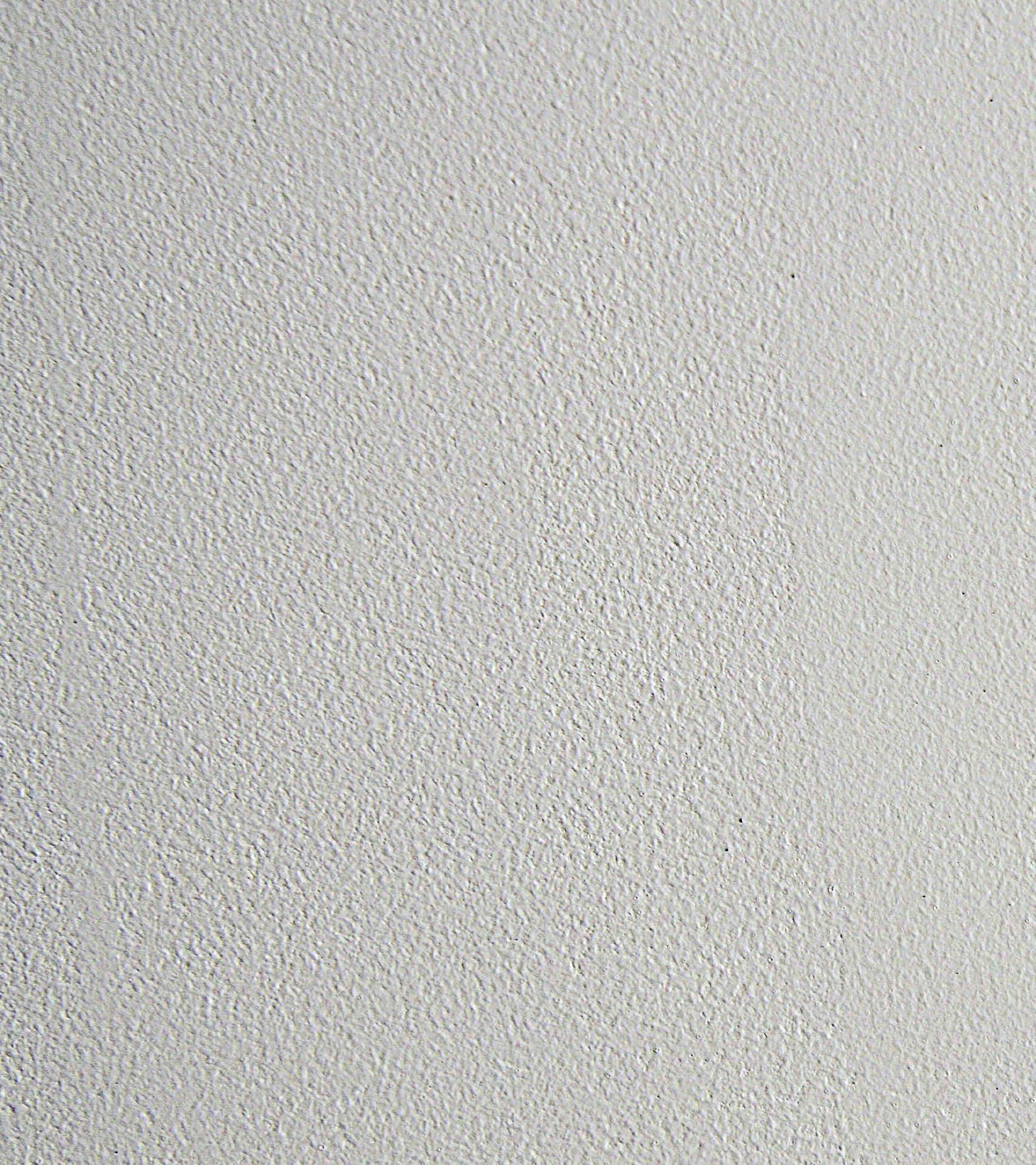
FIGURA 194: Escadaria jardim. FONTE: Elaborado pelo autor.

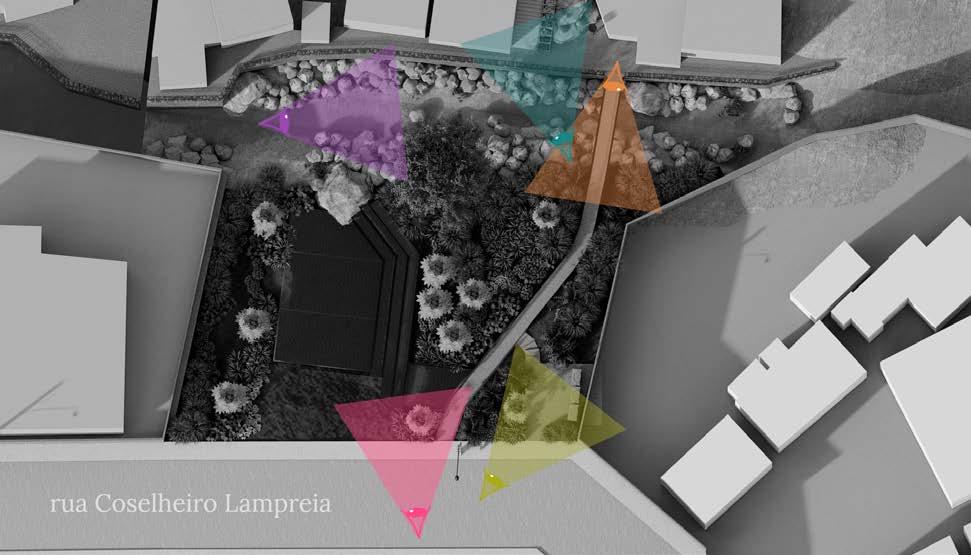

FIGURA 196: Simulação do baldio 01 com nível do FONTE: Elaborado pelo autor.

172
rio Carioca elevado.



FIGURA 195: Intervenção no Baldio 01. FONTE: Elaborado pelo autor.

FIGURA 197: Espaço para os contêineres de lixo. FONTE: Elaborado pelo autor.

173
FIGURA 198: Intervenção no baldio 02. FONTE: Elaborado pelo autor.
FIGURA 199: Vista da via Carioca em direção ao baldio 02. FONTE: Elaborado pelo autor.






FIGURA 200: Vista do mobiliário. FONTE: Elaborado pelo autor.

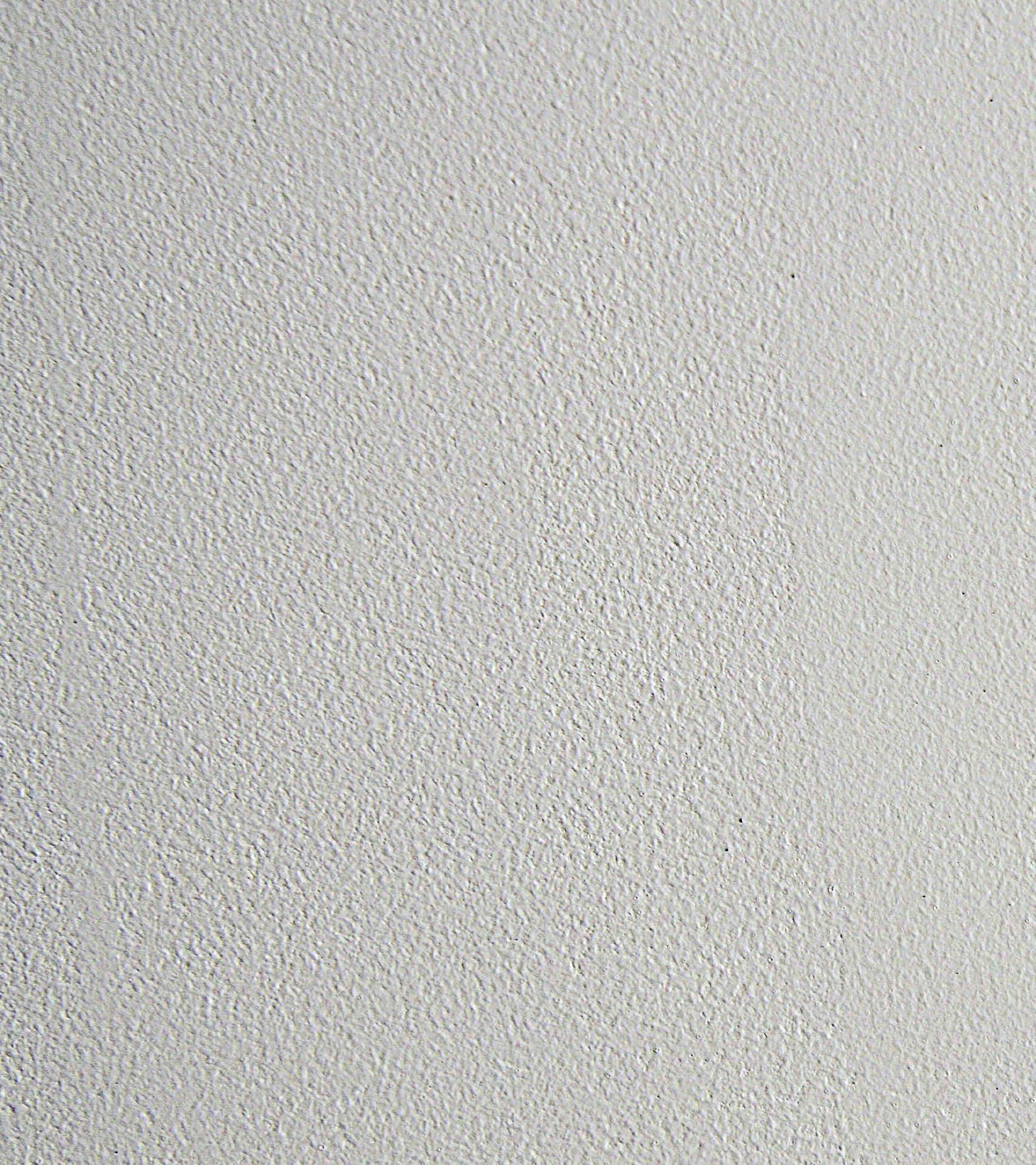
174
FIGURA 201: Vista aérea do baldio 02. FONTE: Elaborado pelo autor.
FIGURA 202: Vagas com piso drenante. FONTE: Elaborado pelo autor.







FIGURA 203: Mobiliário do baldio 02. FONTE: Elaborado pelo autor.

175


176

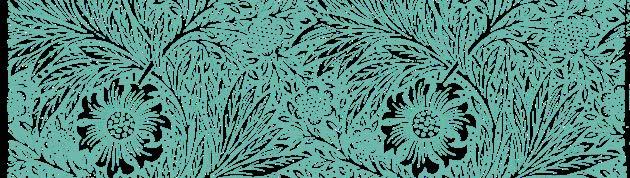


FIGURA 205: Baldio 05 - Parquinho e baldio 04 - Caminho. FONTE: elaborado pelo autor. 177
FIGURA 206: Vista aérea do baldio 03. FONTE: Elaborado pelo autor.
FIGURA 207: Horta comunitária. FONTE: Elaborado pelo autor.




FIGURA 208: Vista do acesso à horta. FONTE: Elaborado pelo autor.


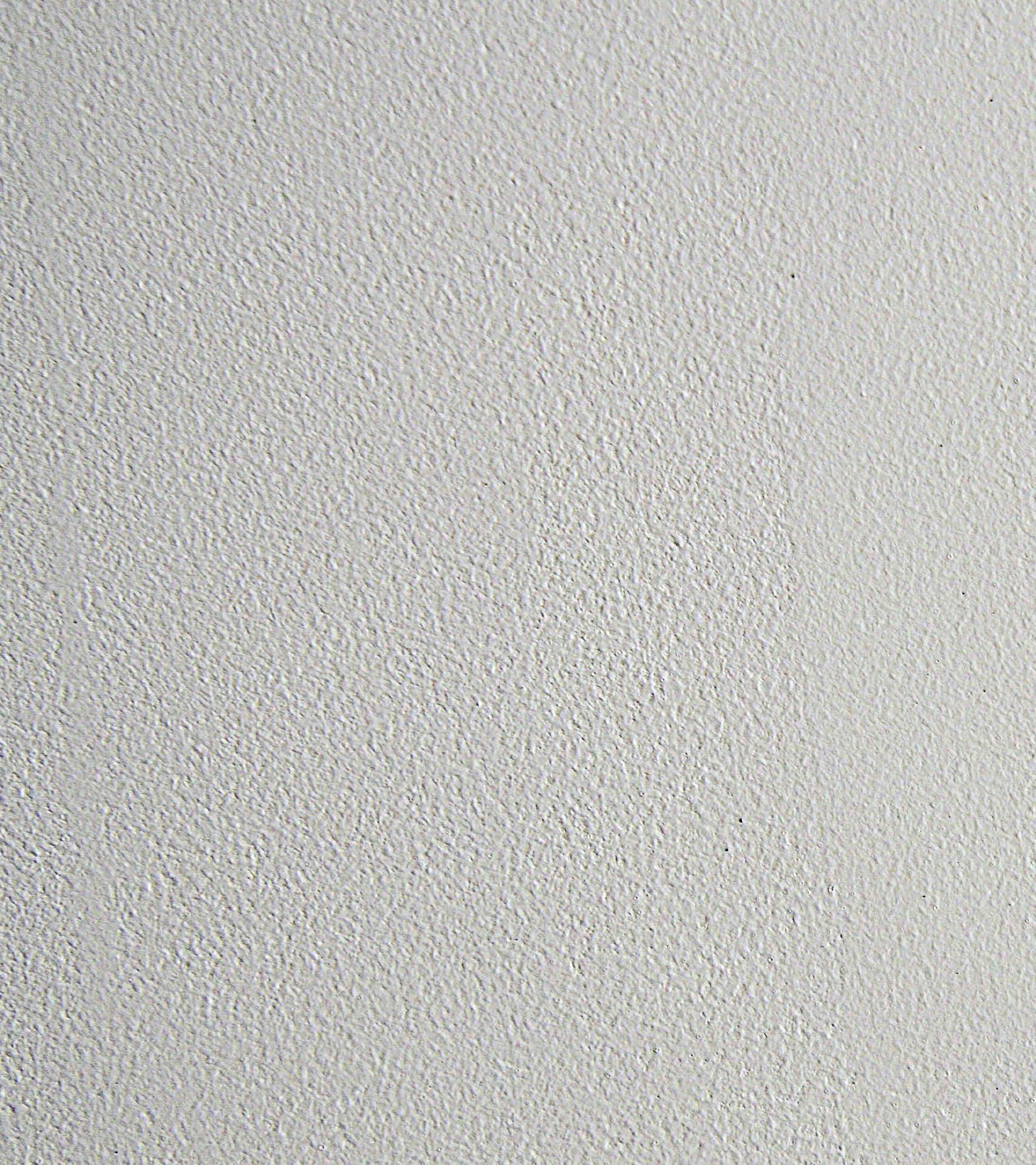
FIGURA 209: Vista do baldio 03 da rua Conselheiro FONTE: Elaborado pelo autor.

178
Conselheiro Lampreia.


FIGURA 210: Intervenção no baldio 03. FONTE: Elaborado pelo autor.

FIGURA 211: Plaraforma para permanência sobre o rio Carioca. FONTE: Elaborado pelo autor.



179
FIGURA 212: Intervenção no baldio 04. FONTE: Elaborado pelo autor.

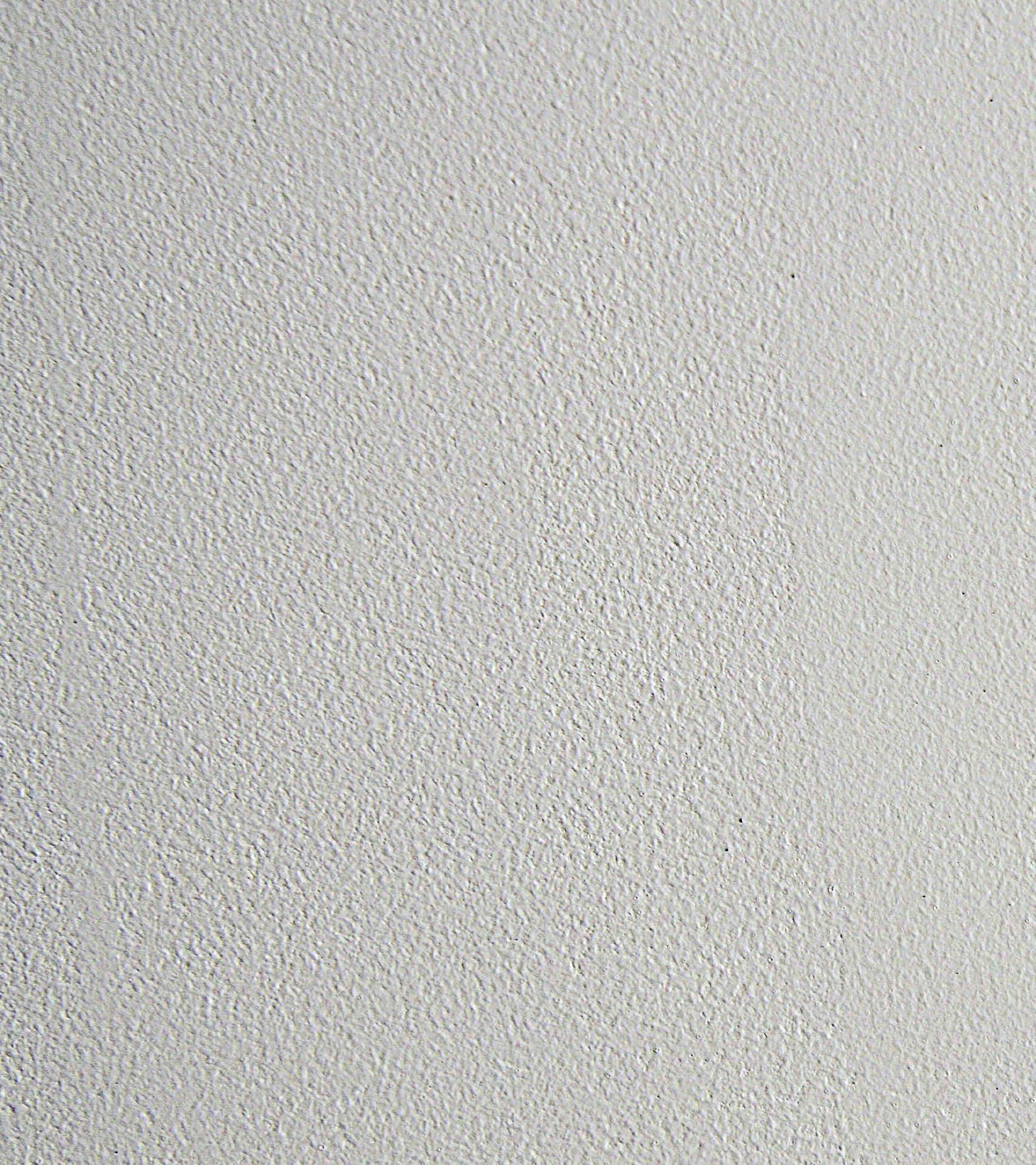
FIGURA 213: Vagas com piso drenante. FONTE: Elaborado pelo autor.




FIGURA 214: O rio Carioca da plataforma. FONTE: Elaborado pelo autor.

180
FIGURA 215: Vista aérea no baldio 05. FONTE: Elaborado pelo autor.

FIGURA 216: Jardim de chuva. FONTE: Elaborado pelo autor.




FIGURA 217: Plataforma elevada do baldio 04. FONTE: Elaborado pelo autor.

181

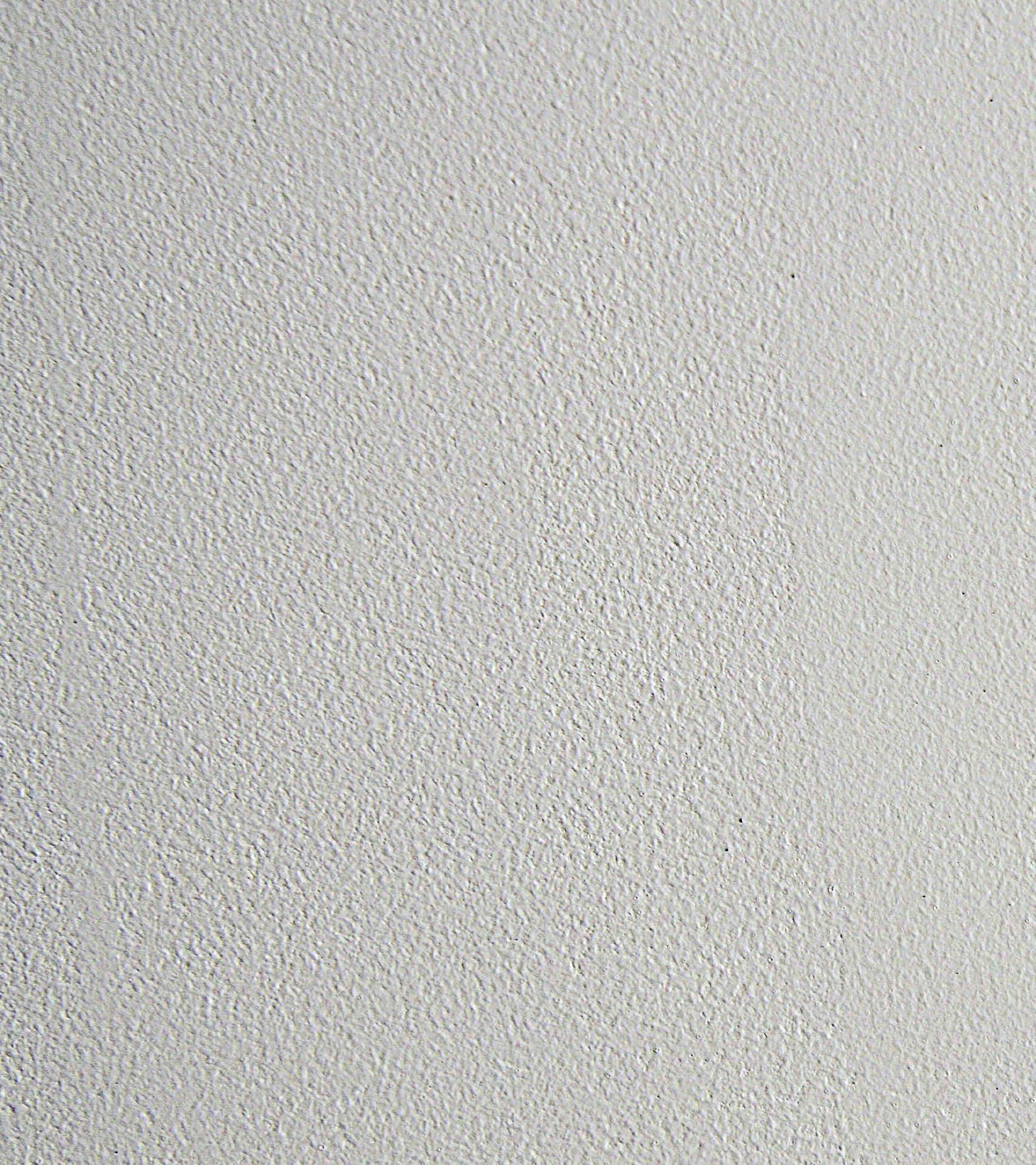



 FIGURA 221: Muro verde que protege o parquinho.
FIGURA 221: Muro verde que protege o parquinho.
182






183

Considerações Finais
Neste projeto de conclusão de curso, o obje tivo central foi realizar, no rio Carioca, o mais profundo mergulho possível. Claro, tendo como limite para esta atividade o tempo. Este mergulho se deu através de pesquisa, de visitas por onde o rio passa (e onde ainda deveria passar na superfície), de conversas com moradores e visitantes e do mergulho literal na Piscininha do Silvestre.
O que se viu a partir disso foi uma paisagem de vestígios. Um rio fragmentado e a ele associados outros elementos, por sua vez, também frag mentados: os edifícios da antiga infraestrutura de abastecimento de água da cidade. O Carioca, então, era, além disso, um rio de memórias, vivas ou não. O problema, desse modo, poderia ser definido pelo binômio desconexão-esquecimento.
Para tentar desatar esse nó, entraram em cena dois teóricos. Se John Ruskin via o tempo como elemento fundamental para se atribuir valor a um edifício, Gilles Clément o encarava como aspecto básico para a criação de um jardim pautado pela di versidade biológica. É a partir de uma costura dos pensamentos desses dois que surge o aporte teórico-metodológico da proposta de intervenção deste trabalho.
Inerente a isso, estão associadas algumas contradições: Como incluir o tempo em um projeto? Como intervir sem perturbar aquilo que foi esco lhido como qualidade preexistente? São problemas complexos e que não possuem respostas definitivas. Justamente por isso são inúmeras as maneiras de se tentar dialogar com essas questões. Este trabalho, portanto, especula apenas uma delas.

FONTE: Realizado pelo autor
REFERÊNCIAS
Livros, teses, dissertações e artigos:
ADAMS, William H. Burle Marx: the unnatural art of the garden. 1. ed. Nova Iorque: MOMA, 1991.
AMORIM, Nayara C. R. Rios em Assentamentos Informais: Conflitos, possibilidades e estratégias. Orientador: Paulo Renato Mesquita Pellegrino. Tese de Doutorado - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2021.
BACHELARD, Gaston. A Água e os Sonhos. 3.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2018.
BESSE, Jean-Marc. O Gosto pela Paisagem: exercícios de paisagem. 1. ed. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2014.
BRANDI, Cesare. Teoria da Restauração. 3. ed. Cotia: Artes & Ofícios, 2008.
BONDUKI, N. Intervenções urbanas na recuperação de centros históricos. 1. ed. Distrito Federal: Programa Monumenta, 2010.
DEBRET, Jean B. Voyage Pittoresque et Historique au Brésil. Paris: Firmin Didot Frères, 1835.
CLÉMENT, Gilles. Le Tiers Paysage. 2014. Disponível em: < http://www.biodiversiteetbati.fr/Files/ Other/DocComplGTBPU/F05-ManifesteTiersPaysage-GClement.pdf> Acessado em: 22 set. 2022.
CLÉMENT, Gilles. Jardim para uma falha no tempo. Cadernos Selvagem. Rio de Janeir: Dantes Editora, 2021. Disponível em: <http://selvagemciclo.com.br/wp-content/uploads/2021/04/CADERNO21_Gille sOKOK.pdf> Acessado em: 22 set. 2022.
CORRÊA, Rogerio; et al. Faixa Marginal de Proteção. 1. ed. Rio de Janeiro: INEA, 2010.
DE ALMEIDA, Gilson M. A Interação entre o natural e o cultural: como a trajetória do acesso a água produziu um patrimônio arquitetônico na cidade do Rio de Janeiro. XXVII Simpósio Nacional de História, Natal, 2013. Disponível em: <http://www.snh2013.anpuh.org/resources/anais/27/1371345921_ARQUI VO_AInteracaodonaturalcomomaterial.pdf>. Acesso em: 22 set. 2022.
DE ALMEIDA, Gilson M. A Domesticação da água: os acessos e os usos da água na cidade do Rio de
Janeiro entre 1850 a 1889. Orientador: Joaquim Justino Moura dos Santos. Dissertação Mestrado - Programa de Pós-Graduação em História da Instituições, Centro de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, 2010.
DE OLIVERA, Claudia. “A Carioca” de Pedro Américo: gênero, raça e miscigenação no Segundo Reinado”. Caiana: Revista electrónica de Historia del Arte y Cultura Visual del Centro Argentino de Investigadores de Arte (CAIA). n. 2. 2013.
DE PAULA, Beatriz F. Favela dos Guararapes: Uma Narrativa de Resistência e Luta pela Permanência. Orientador: Rafael Soares Gonçalves. Tese de Doutorado - Programa de Pós-graduação em Serviço Social, Departamento de Serviço Social, Pontifícia Universidade Católica - RJ, 2020.
DRUMMOND, José A. O Jardim Dentro da Máquina: Breve História Ambiental da Floresta da Tijuca. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 1, n.2, 1988, p. 276-298.
FIUZA, Alex. Trilha do rio Carioca: Cartilha para uso pedagógico. Rio de Janeiro: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 2019. Disponível em: <https://parquenacionaldatijuca.rio/files/RioCarioca_fundamental. pdf>. Acesso em: 22 set. 2022.
GANDY, Matthew. Entropy by design: Gilles Clément, Parc Henri Matisse and the Limits to Avant-gar de Urbanism. International Journal of Urban and Regional Research. Malden: Blackwell Publishing, 2012.
GRAHAM, M. Journal of a Voyage to Brazil and Recidence There during part of the years 1821, 1822, 1823. Londres: A. & R. Spottiswoode, 1824.
GOMIDE, José H. SILVA, Patrícia R., BRAGA, Sylvia M. N. Manual de Elaboração de Projetos de Preservação do Patrimônio Cultural. Brasília : Ministério da Cultura, Instituto do Programa Monumenta, 2005.
KOPKE, Karolyna de P. Permanências Setecentistas? o público e o privado no Vale dos Contos de Ouro Preto. Orientador: Leonardo Barci Castriota. Dissetação Mestrado - Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável, Universidade Federal de Minas Gerais, 2017.
MAGALHÃES, Gonçalves. A Confederação dos Tamoyos. Rio de Janeiro: Casa Imperial, 1856.
MONTANER, Josep M. Sistemas Arquitetônicos Contemporâneos. 1. ed. São Paulo: Gustavo Gili, 2009.
MOREIRA, Rúbia R. P. S. M. Olhar jardineiro: um passeio pelo jardim, uma imersão na paisagem.
Orientadora: Ana Rita Sá Carneiro Ribeiro. Dissertação Mestrado - Programa de Pós-Graduação em Desen volvimento Urbano, Universidade Federal de Pernambuco, 2018.
ORTEGA, Hanna H. Entre lo francés y lo pintoresco: una lectura estética del “jardin en movimiento” de G. Clément. Cidade do México: UNAM, 2015.
POLIZZO, Ana P. Paisagem e Arquitetura: uma Discussão acerca da Produção do Espaço Moderno no Brasil. Porto Alegre: IV enenparq, 2016.
RUSKIN, John. Complete Works of John Ruskin. 1. ed. Hastings: Delphi Classics, 2014.
SANTANA, Ana S. Modernidade, Stimmung e o Romantismo no Brasil. Revista Expedições, v.10, n.2, 2009.
SCHLEE, Monica B. Landscape Change along the Carioca River. Orientador: Kenneth Tamminga. Dissertação Mestrado - Landscape Architecture, College of Arts and Architecture, Pennsylvania State University, 2002.
SCHLEE, Monica B.; NETTO, Ana L. C.; TAMMINGA, Kenneth. Mapeamento Ambiental e Paisagísti co de Bacias Hidrográficas Urbanas: Estudo de Caso do rio Carioca. Rios e Paisagens Urbanas em Cidades Brasileiras. Rio de Janeiro, Programa de Pos-Graduaçao Em Urbanismo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2006.
SCHLEE, Monica B.; CAVALCANTI, Nireu O.; TAMMINGA, Kenneth. As Transformações da Paisagem na Bacia do Rio Carioca. Paisagem Ambiente: ensaios. São Paulo: n.24, p. 267 - 284, 2007.
SERPA. Ângelo. Paisagem em Movimento: o Parque André-Citroen em Paris. Paisagem Ambiente: ensaios, São Paulo: n.19, p.137 - 162, 2004.
TEIXEIRA, Carlos M. Ode ao Vazio. Pensamento da América Latina. Belo Horizonte: p. 17 - 33, 2003.
VIDEIRA, M.; FRUTUOSO, V. O Jardim do Telhado da Base de Submarinos em Saint-Nazaire como exemplo do princípio da Terceira Paisagem de Gilles Clément. Vila Real: UTAD, 2016.
Iventários do INEPAC:
FRANCOa, Iracema. Inventário de Identificação dos Reservatórios da CEDAE: Caixa da Mãe D’água e Reservatório Carioca ou Caixas do Carioca. 2006. Disponível em: <http://www.inepac.rj.gov.br/applica tion/assets/img/site/4_ficha_carioca.pdf>. Acesso em: 22 set. 2022.
FRANCOb , Iracema. Inventário de Identificação dos Reservatórios da CEDAE: Reservatório do Morro do Inglês. 2006. Disponível em: <http://www.inepac.rj.gov.br/application/assets/img//site/7_ficha_mor rodoingles_ladas.pdf>. Acesso em: 22 set. 2022.
FRANCOc , Iracema. Inventário de Identificação dos Reservatórios da CEDAE: Reservatório da Cor reção. 2006. Disponível em: <http://www.inepac.rj.gov.br/application/assets/img//site/8_ficha_correcao. pdf>. Acesso em: 22 set. 2022.


190
Apêndice I


Caderno Técnico
FONTE: Realizado pelo autor 191
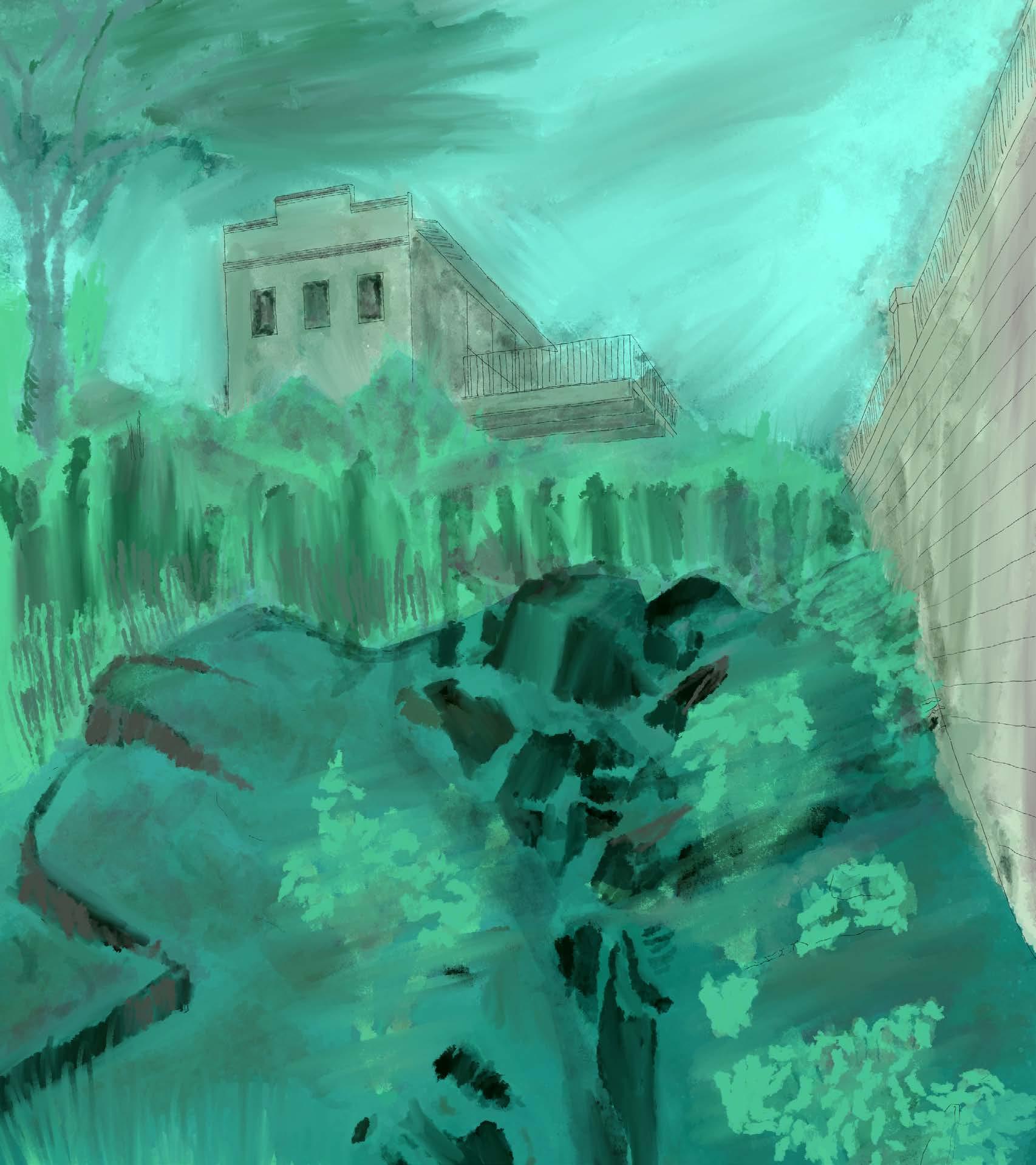





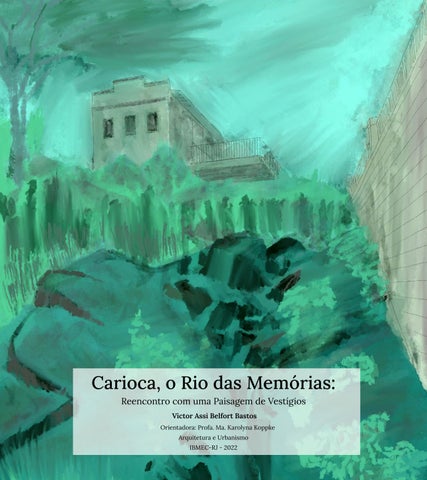


 Gaston
Gaston
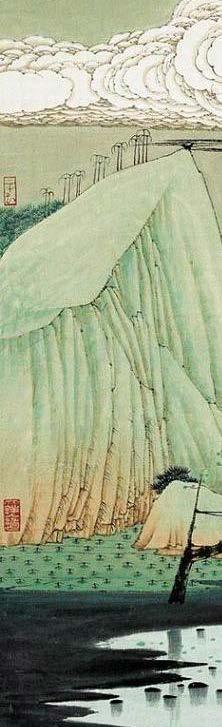







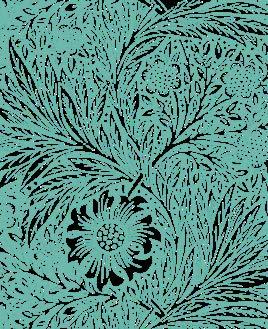
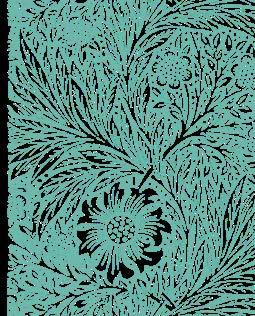
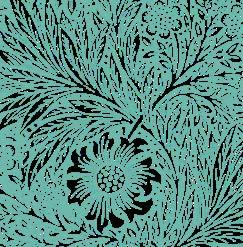
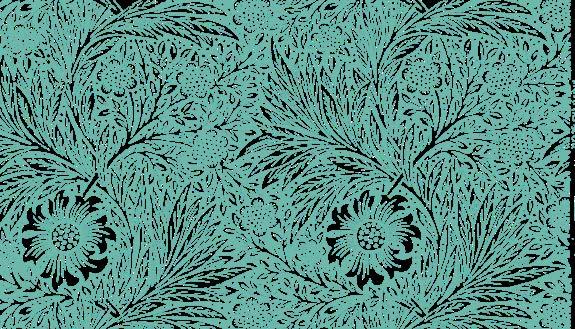

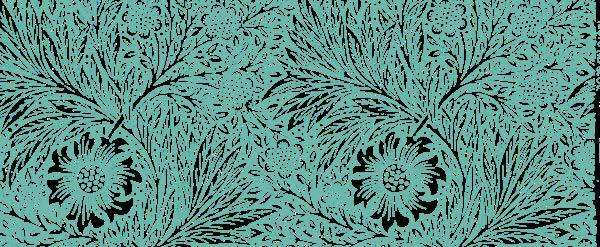

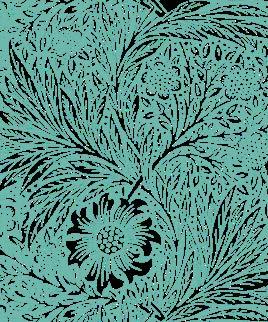
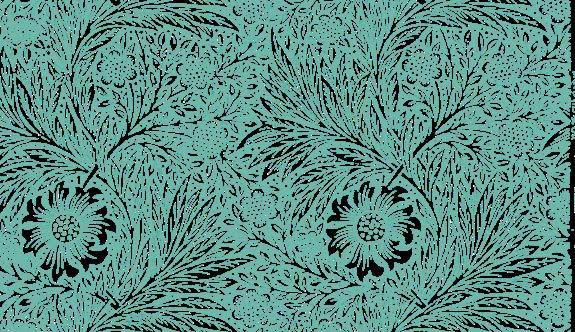
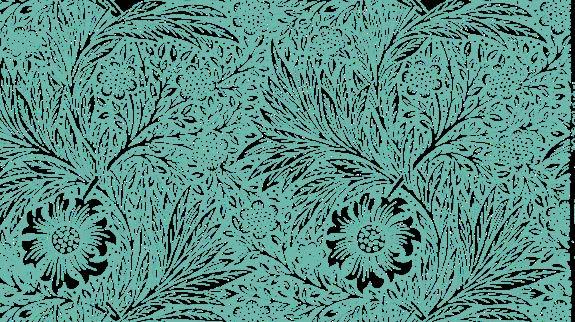























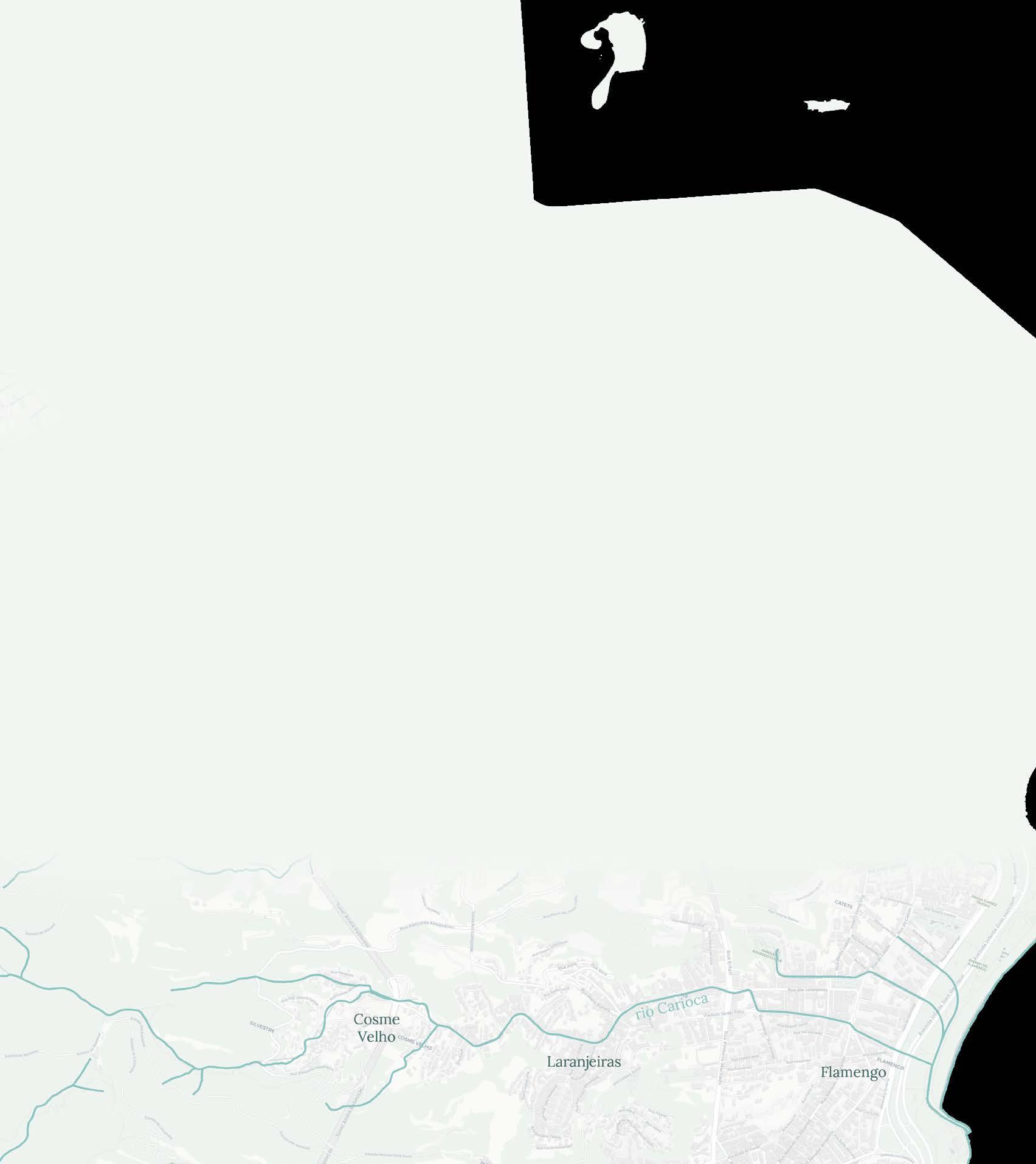






 FIGURA
FIGURA









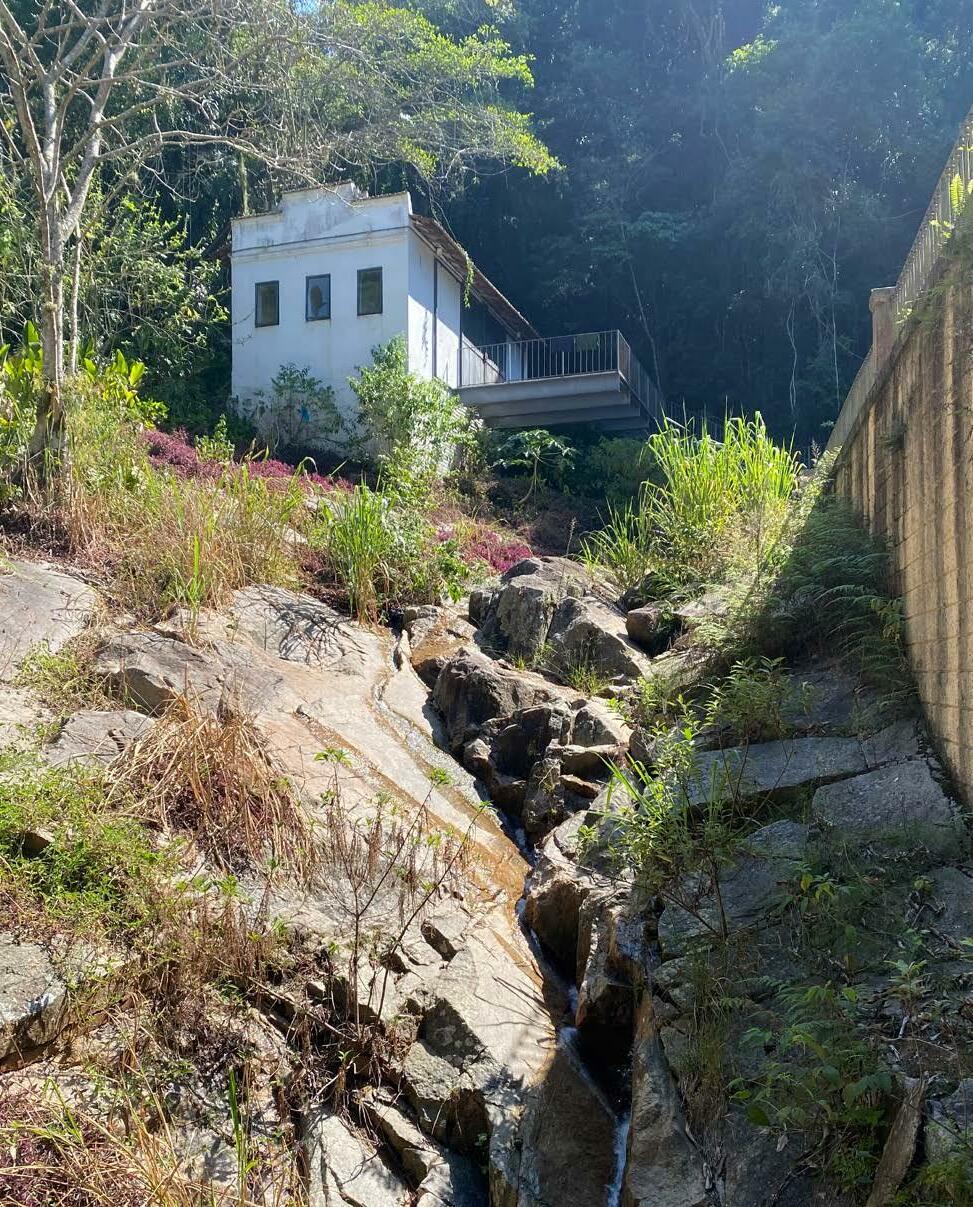



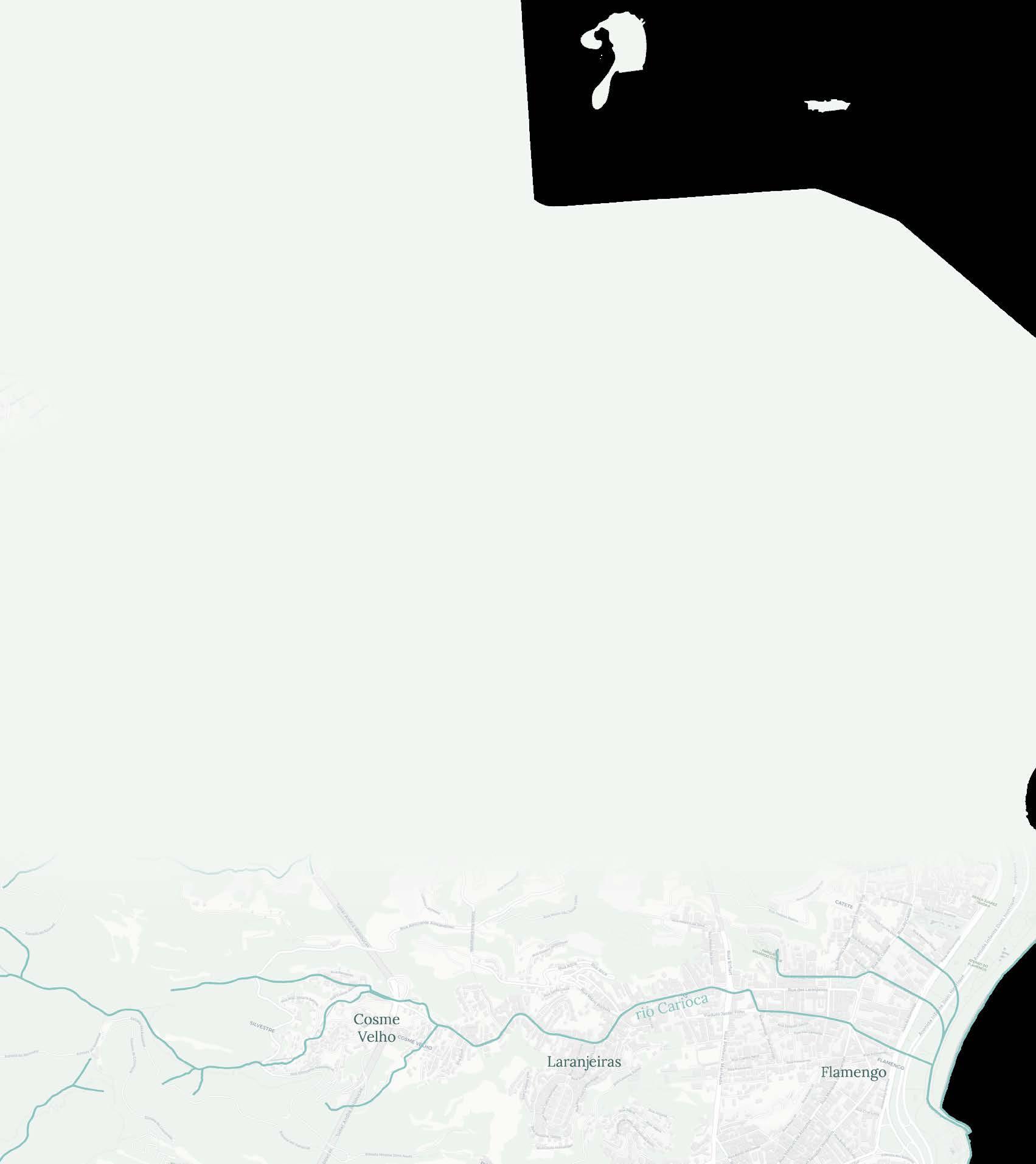






 FIGURA 33: Jovem visitante se projeta no parapeito. FONTE: acervo pessoal (jun/2022).
FIGURA 33: Jovem visitante se projeta no parapeito. FONTE: acervo pessoal (jun/2022).






 FIGURA 34: Rio Carioca continua sua descida depois de passar na Piscininha do Silvestre.
FONTE: acervo de Lenice Paim1
FIGURA 34: Rio Carioca continua sua descida depois de passar na Piscininha do Silvestre.
FONTE: acervo de Lenice Paim1












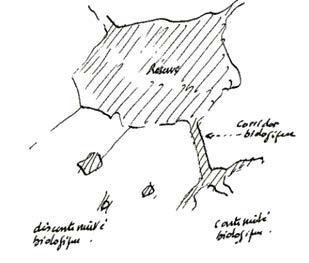






















 FIGURA
FIGURA





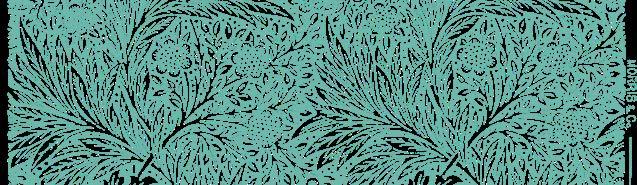
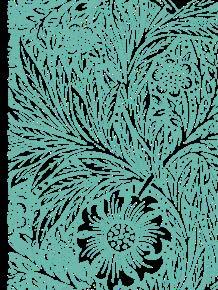

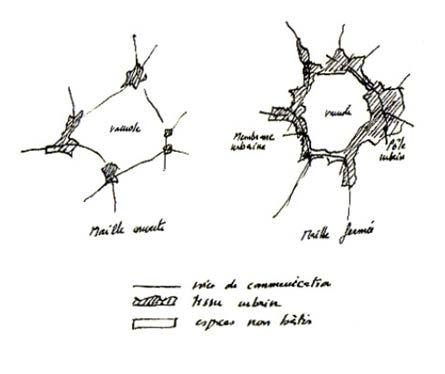

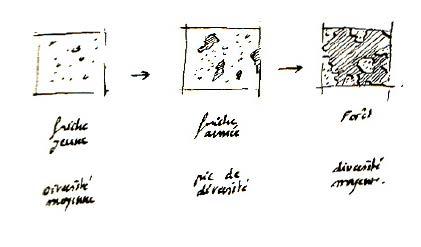
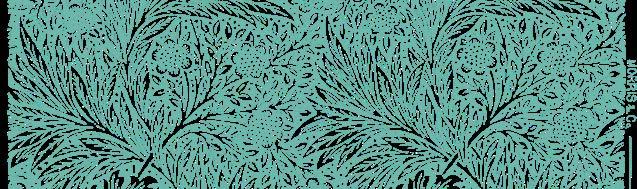

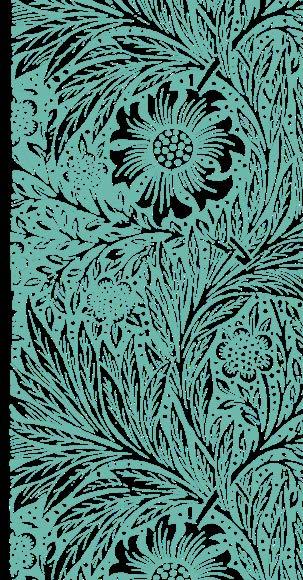







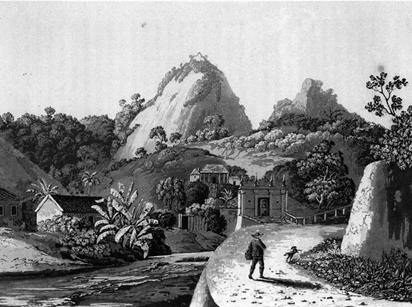









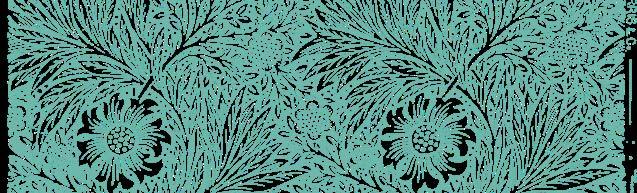



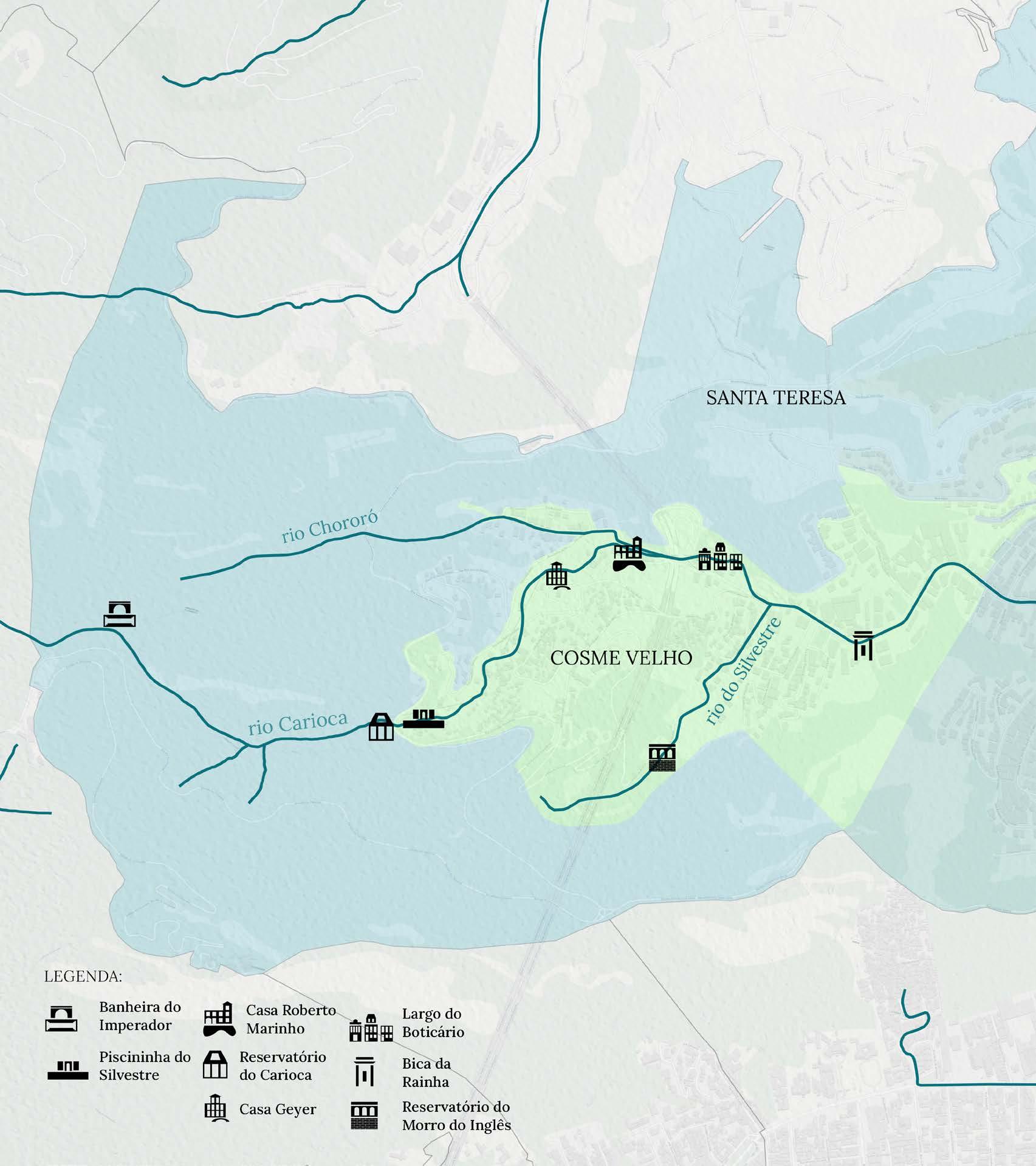

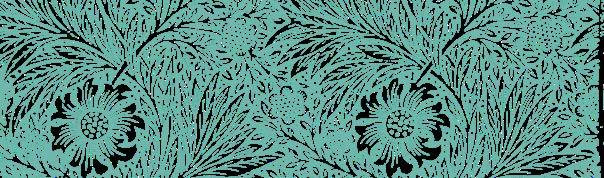
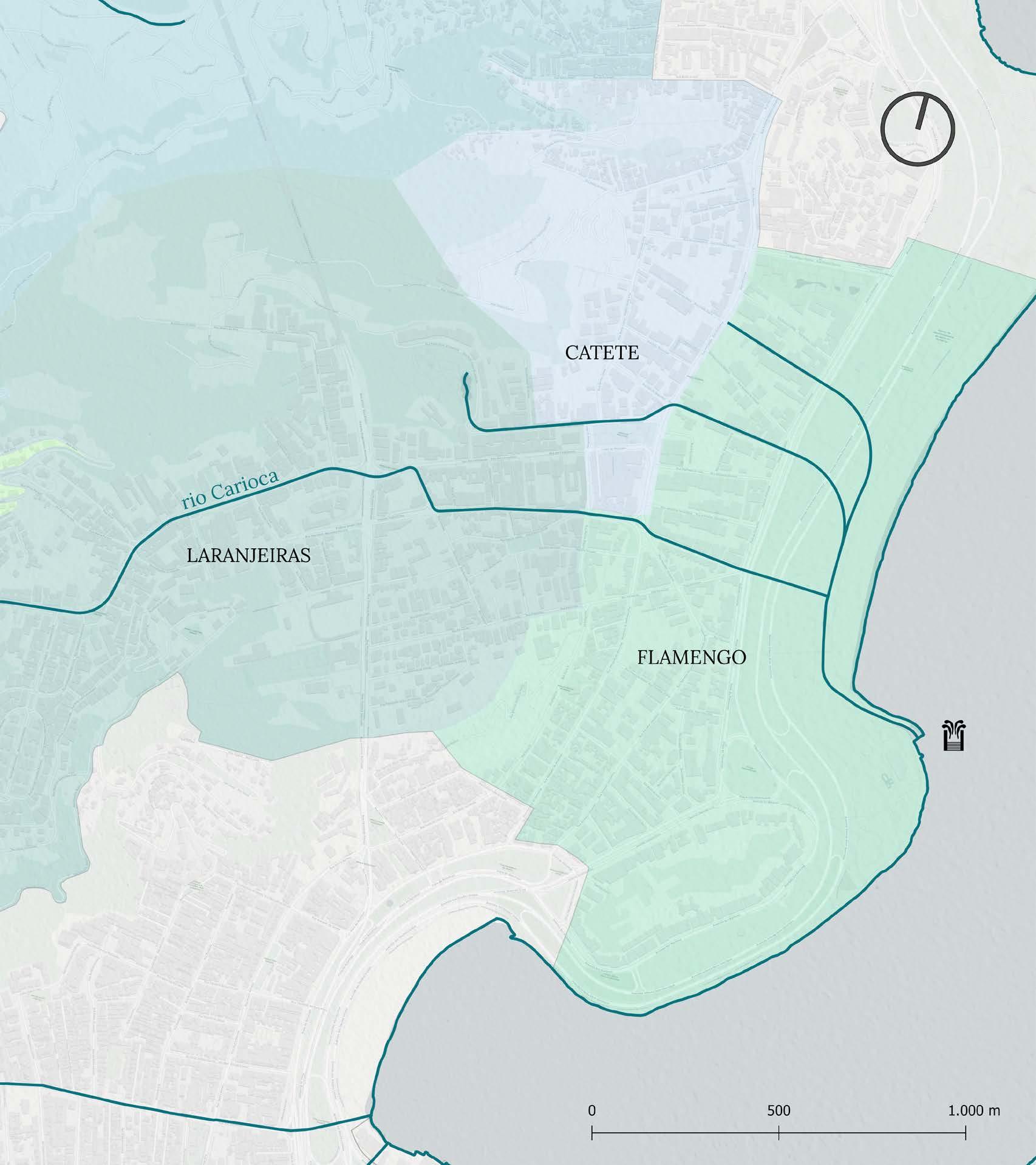
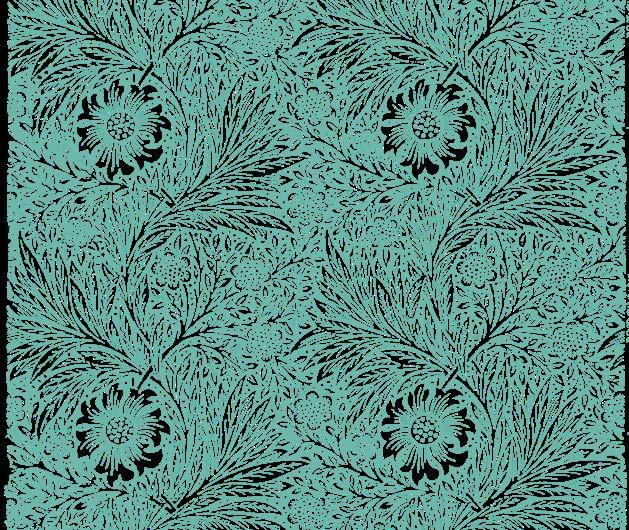
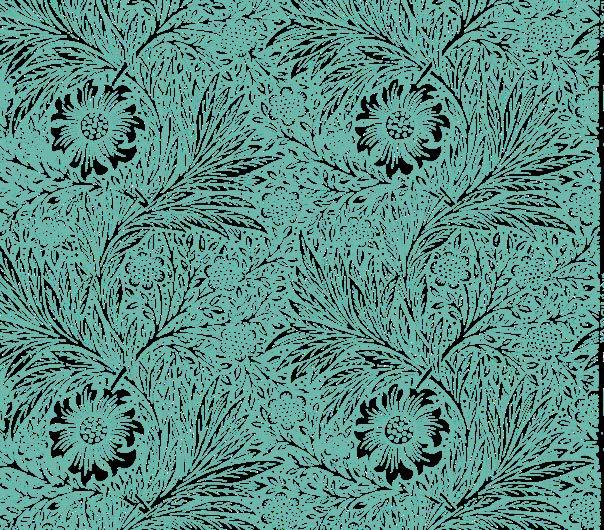
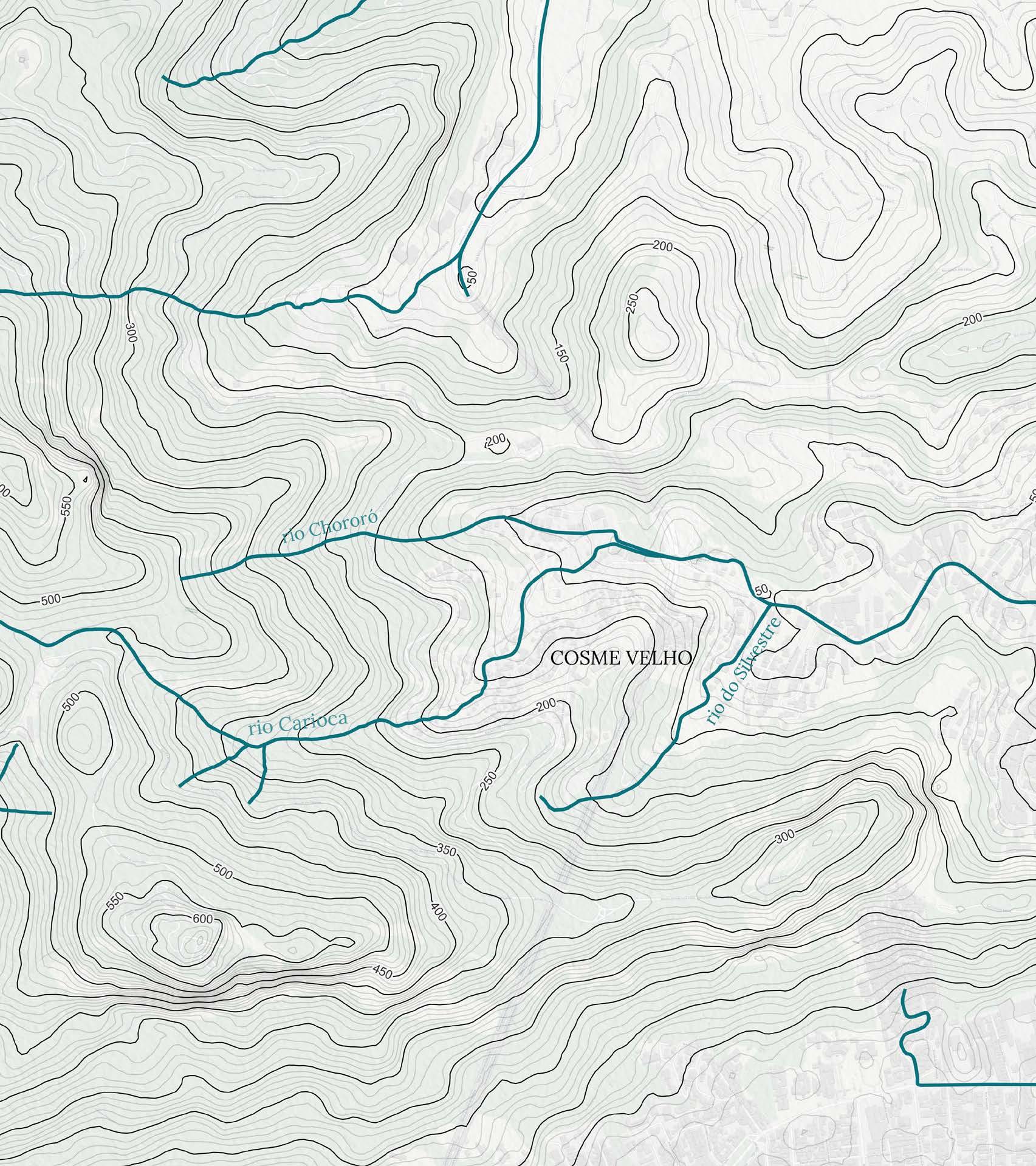
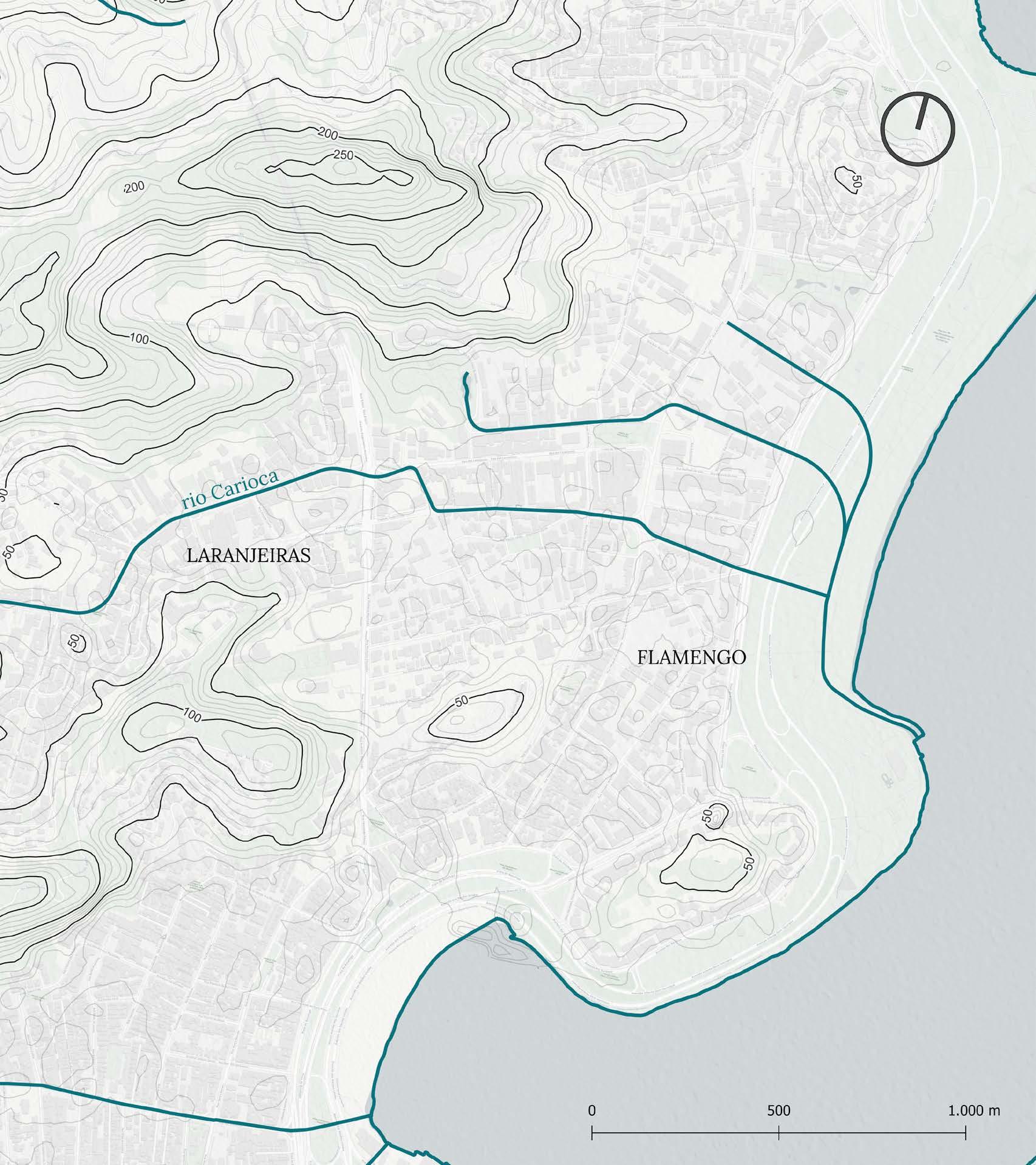



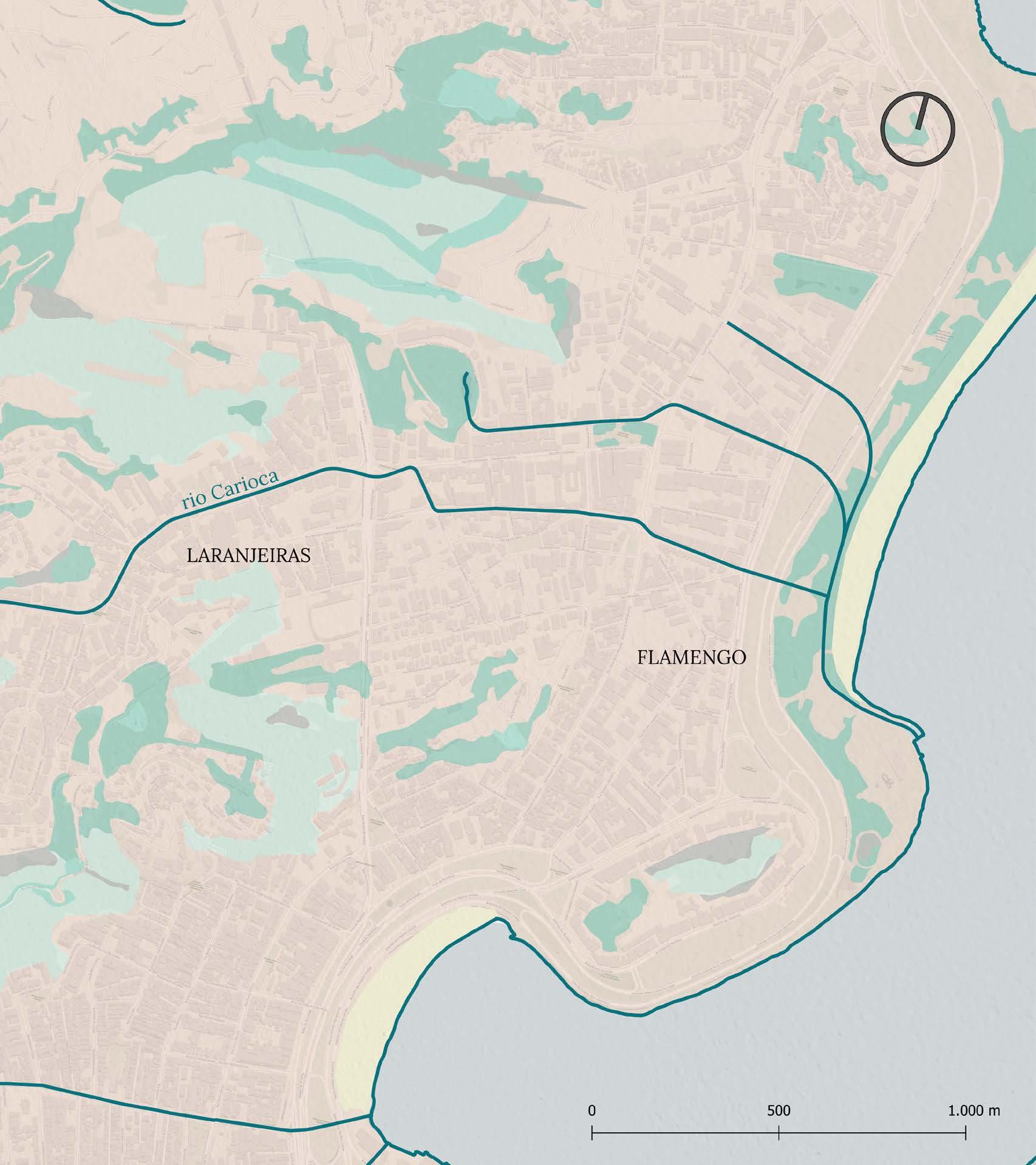
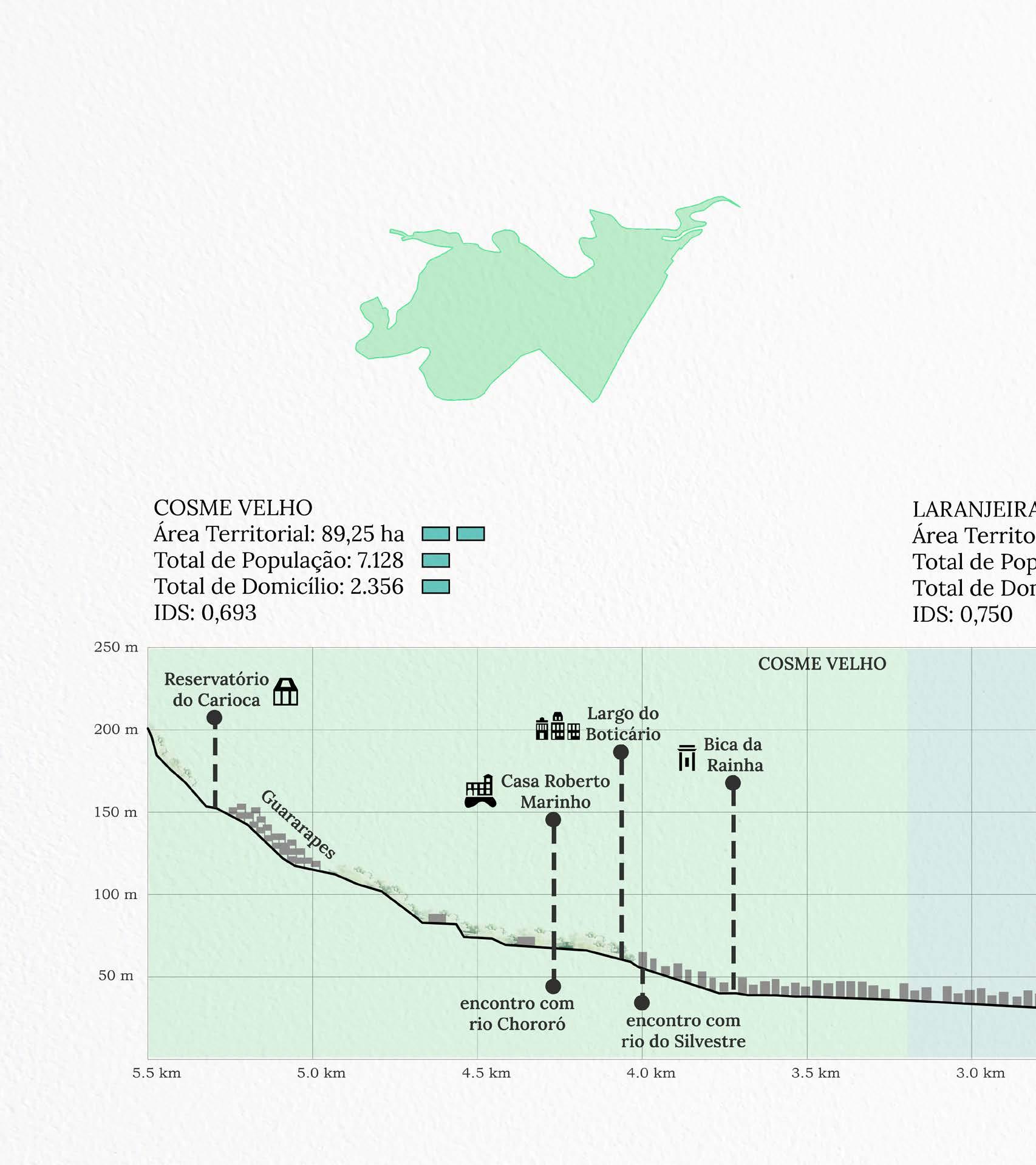
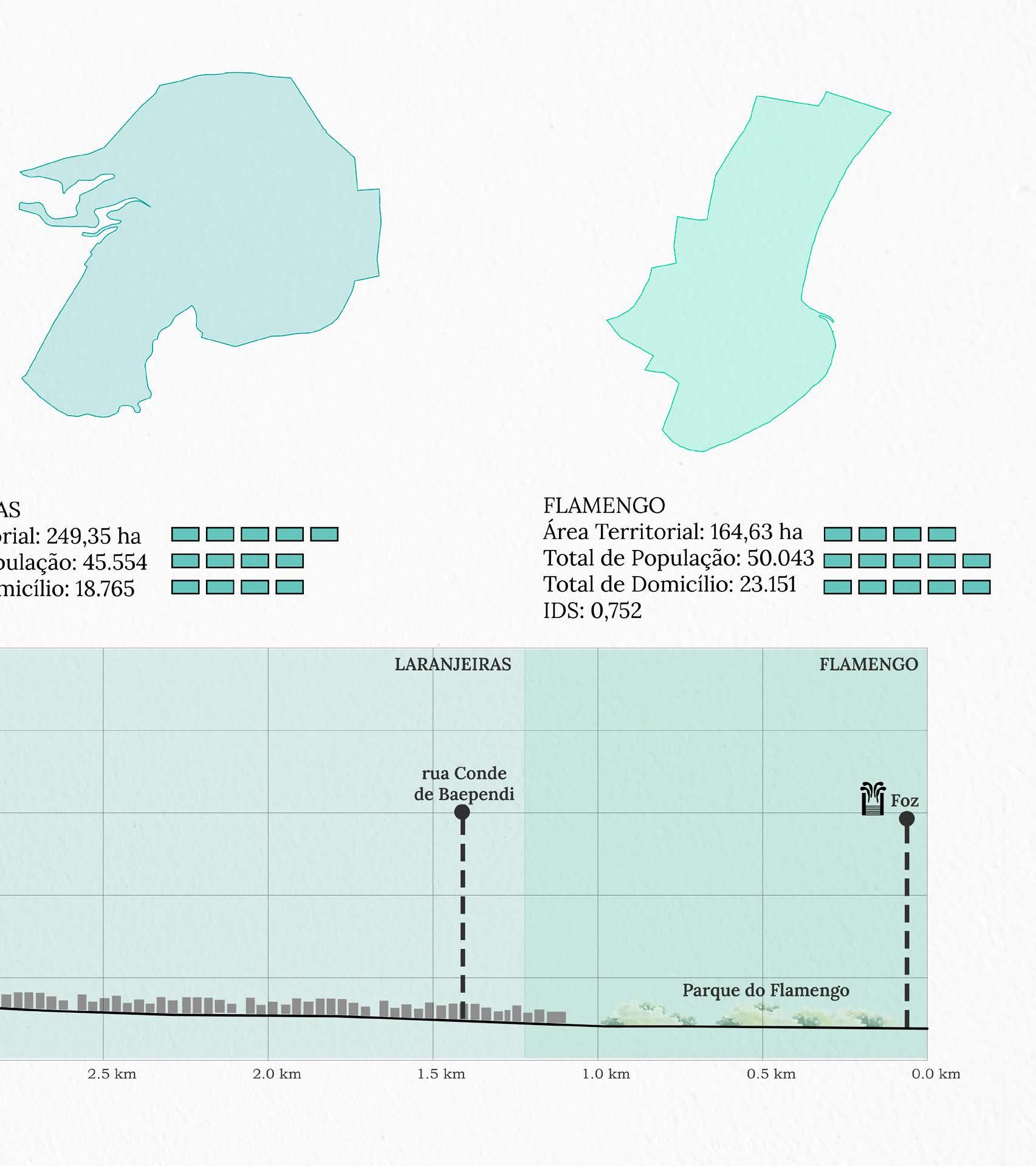


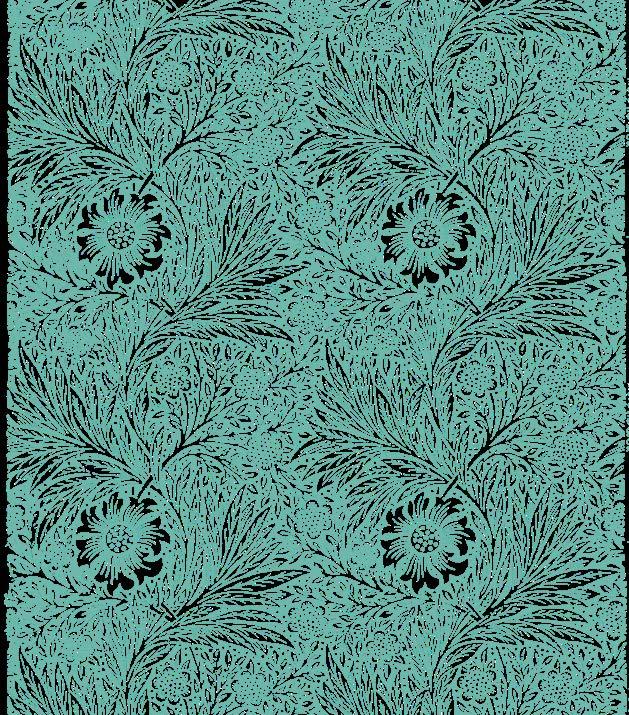
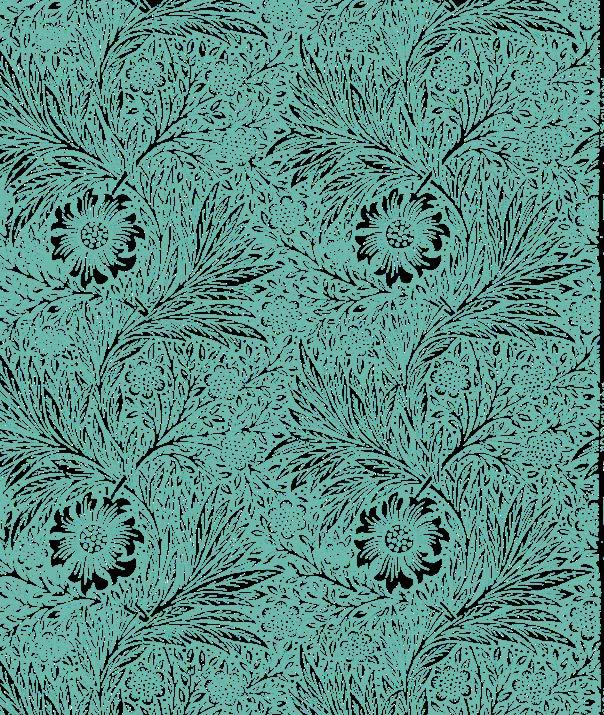
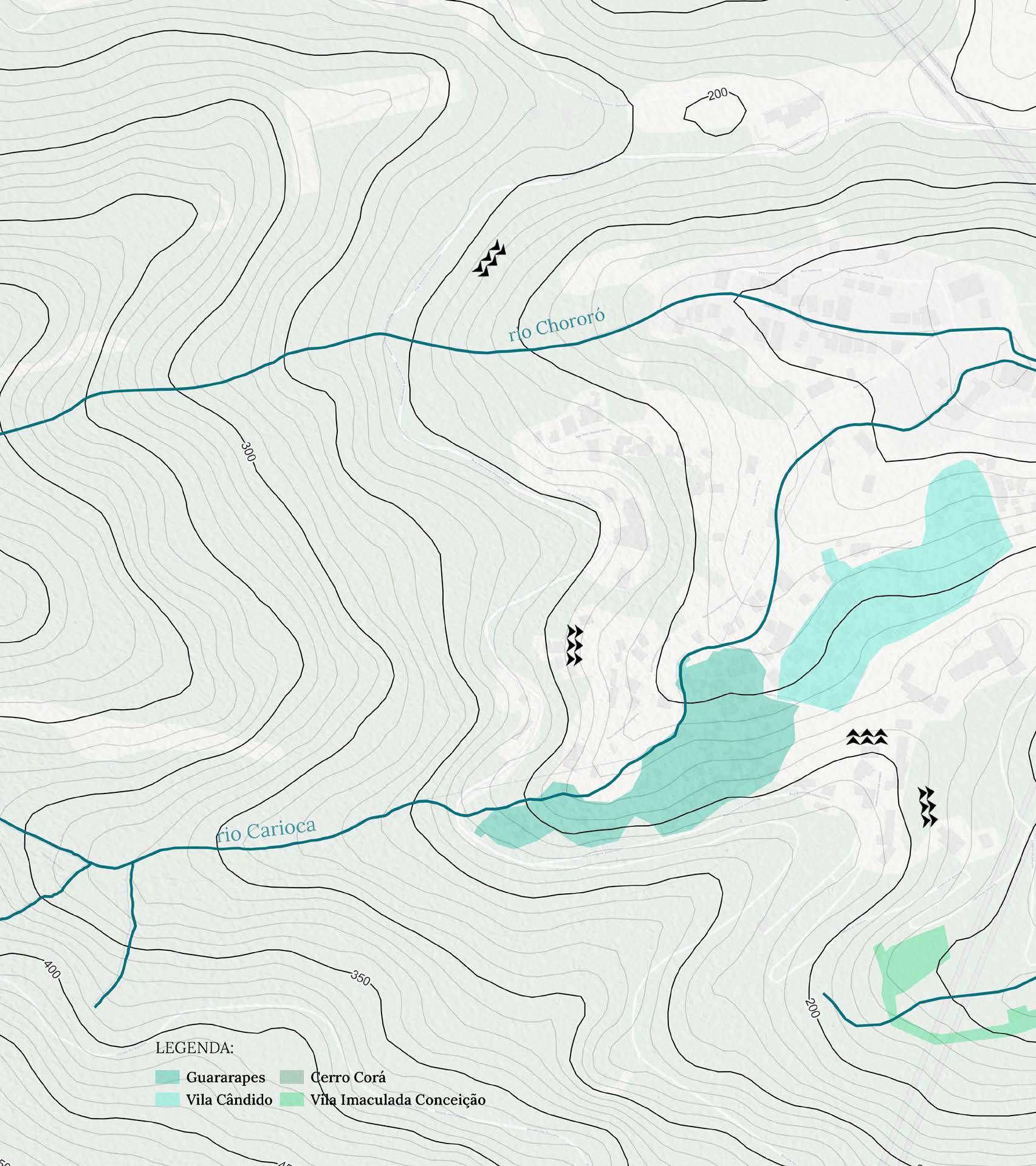
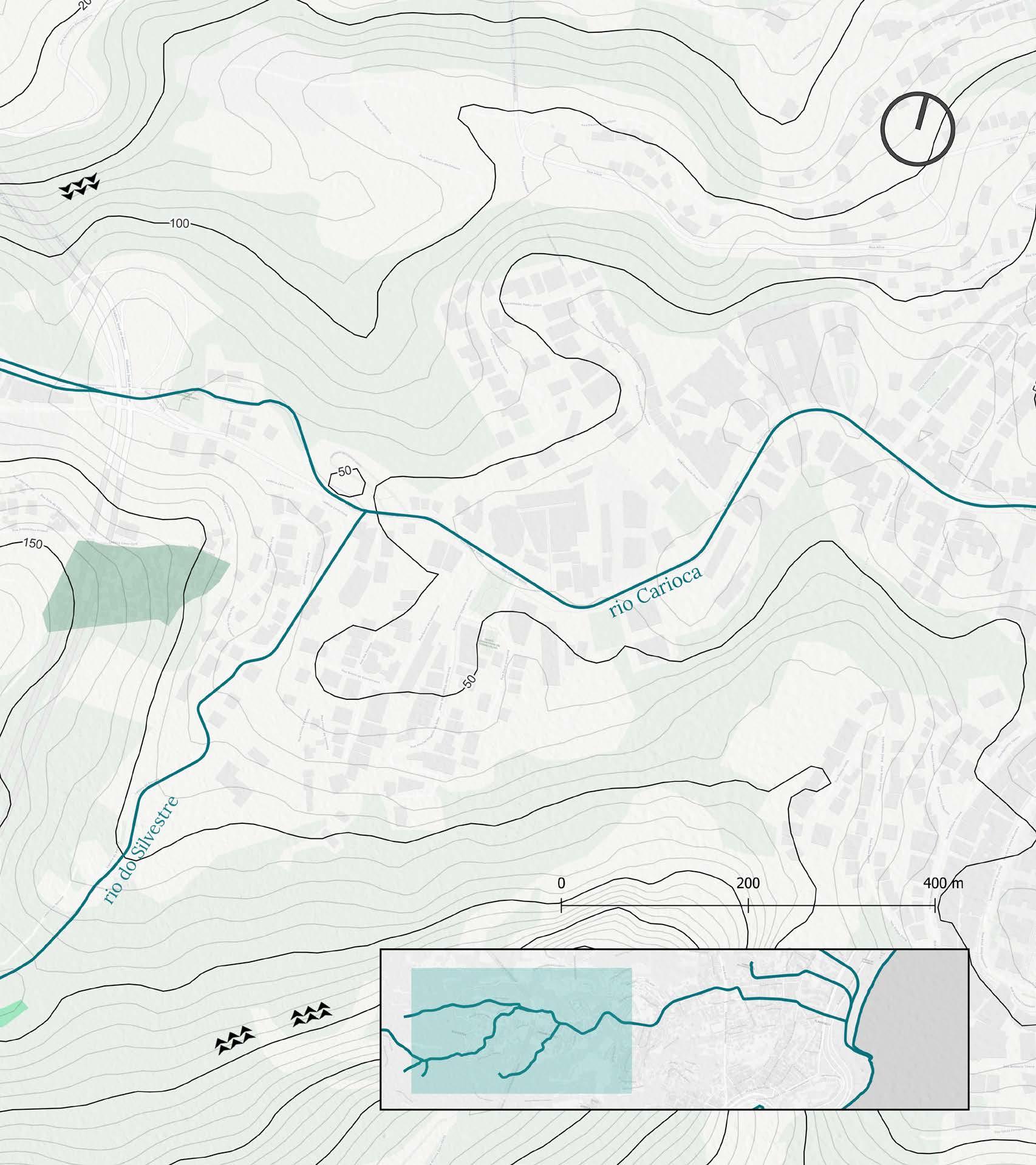


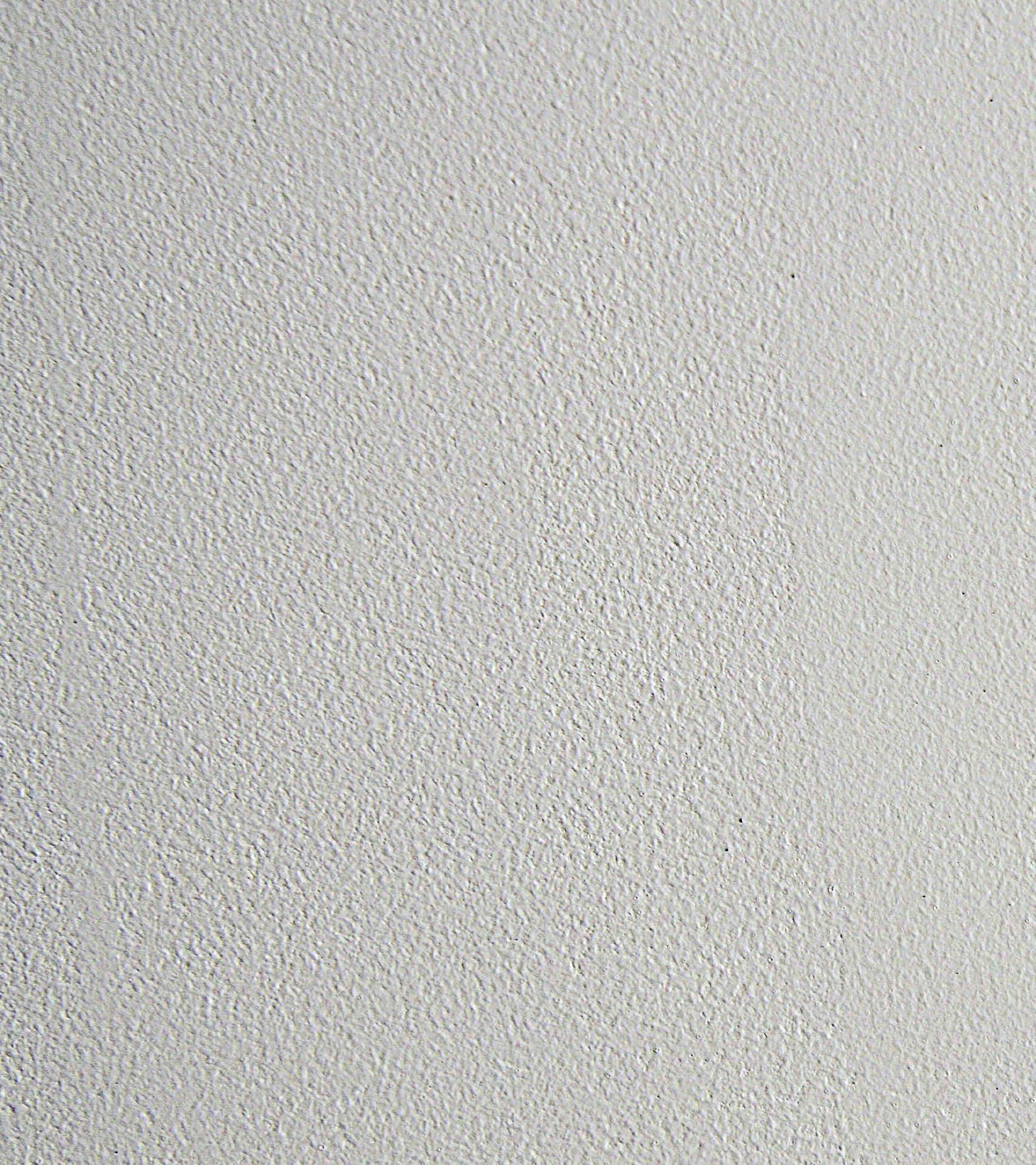
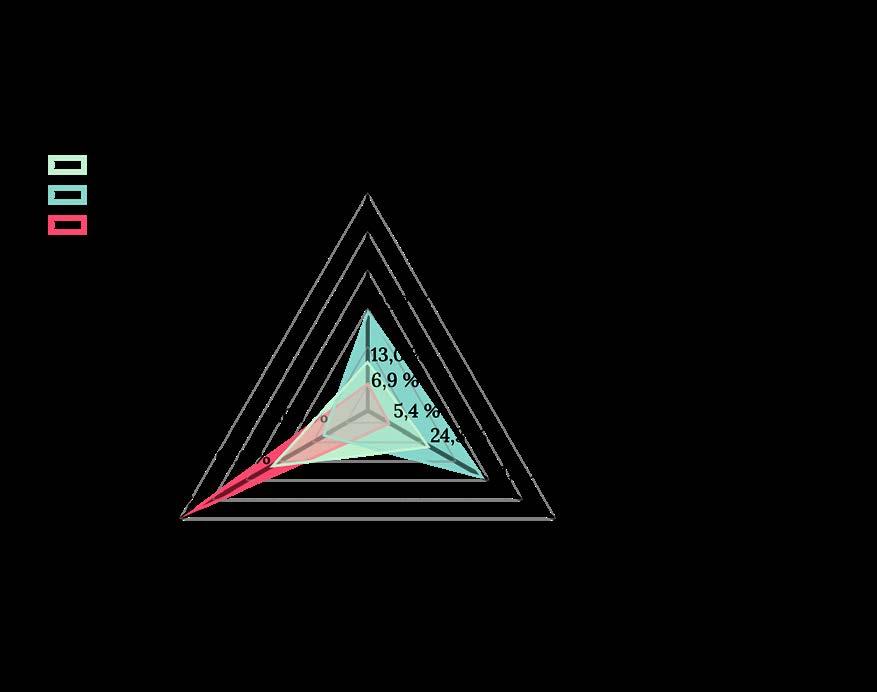

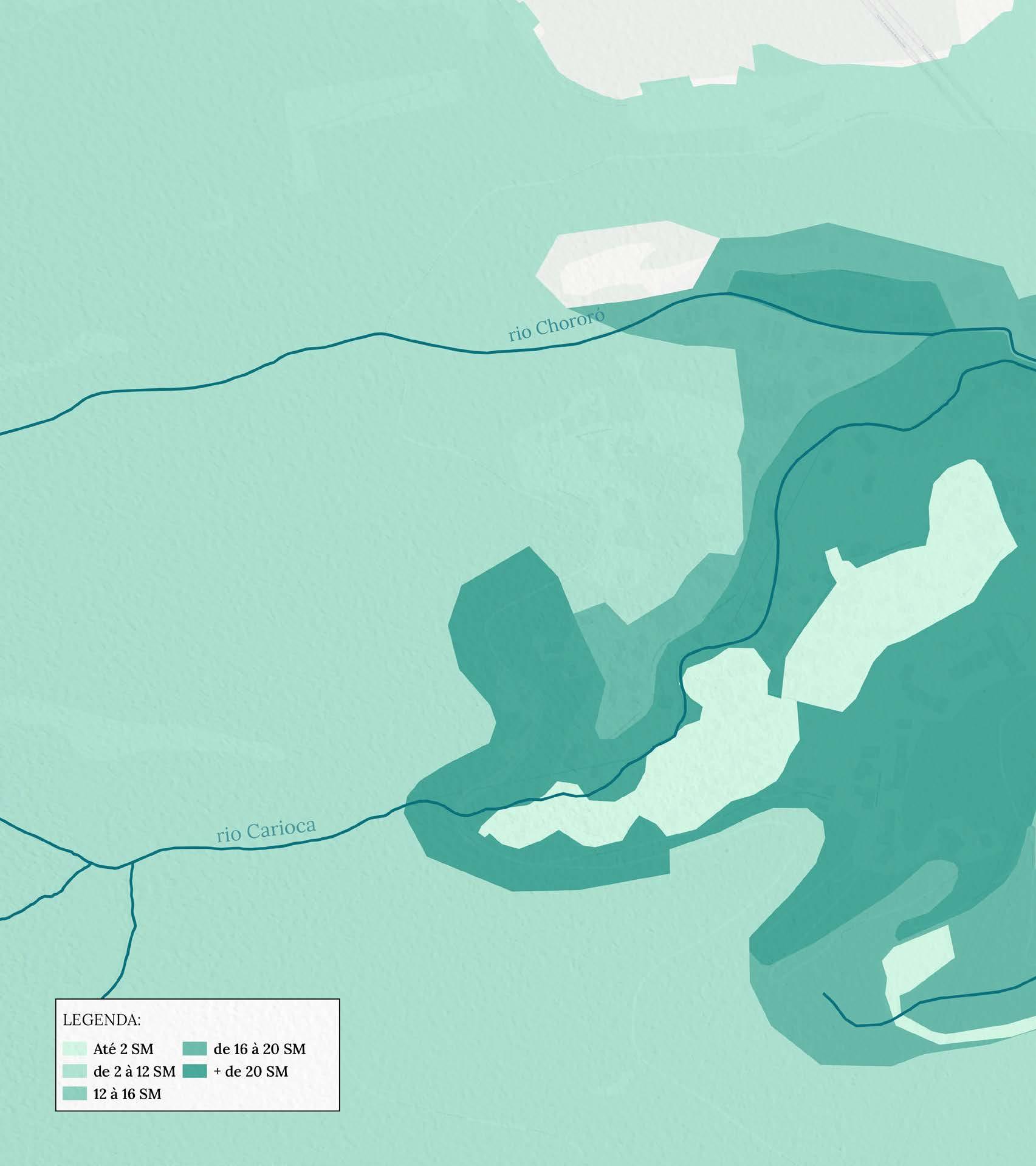
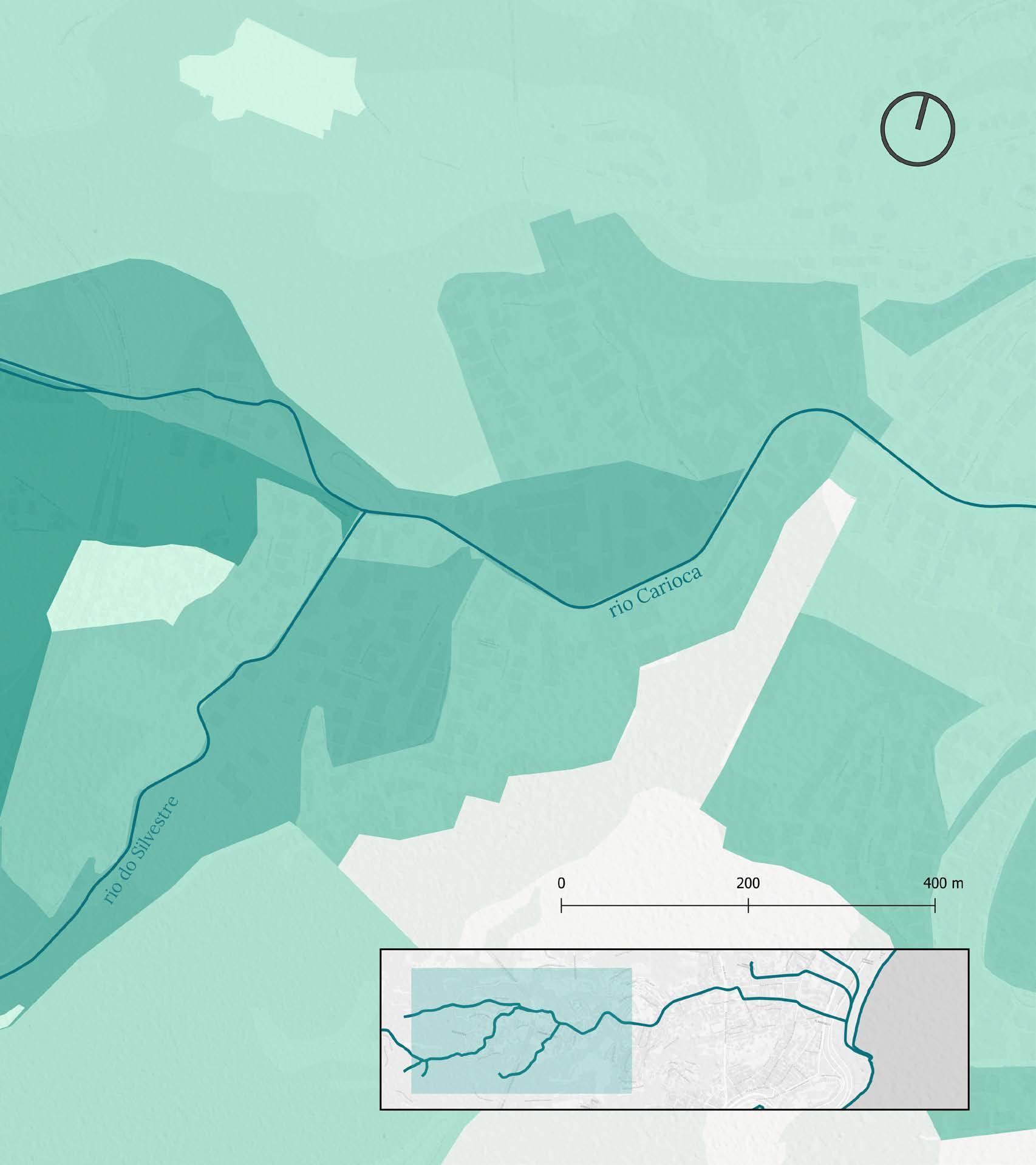
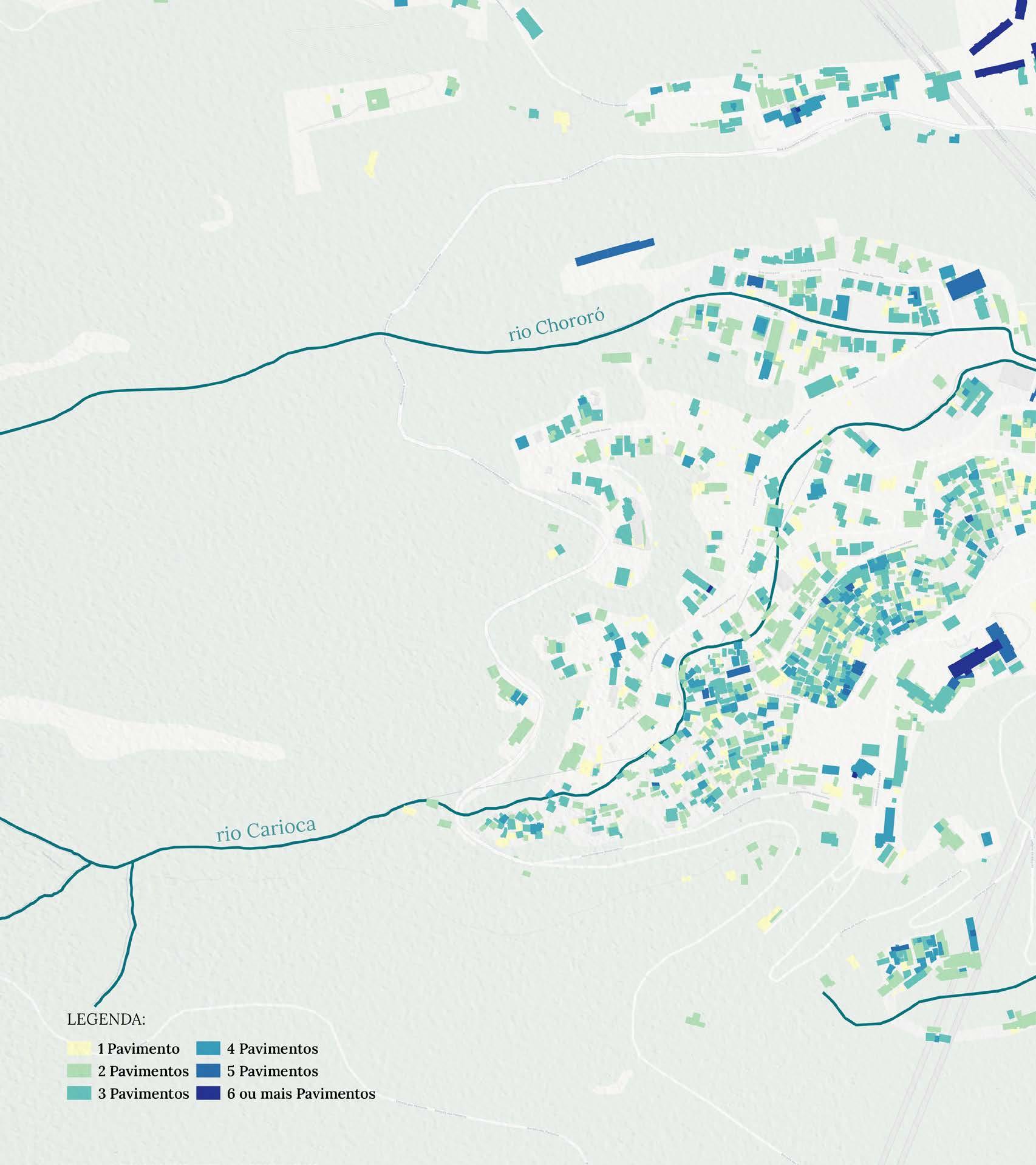
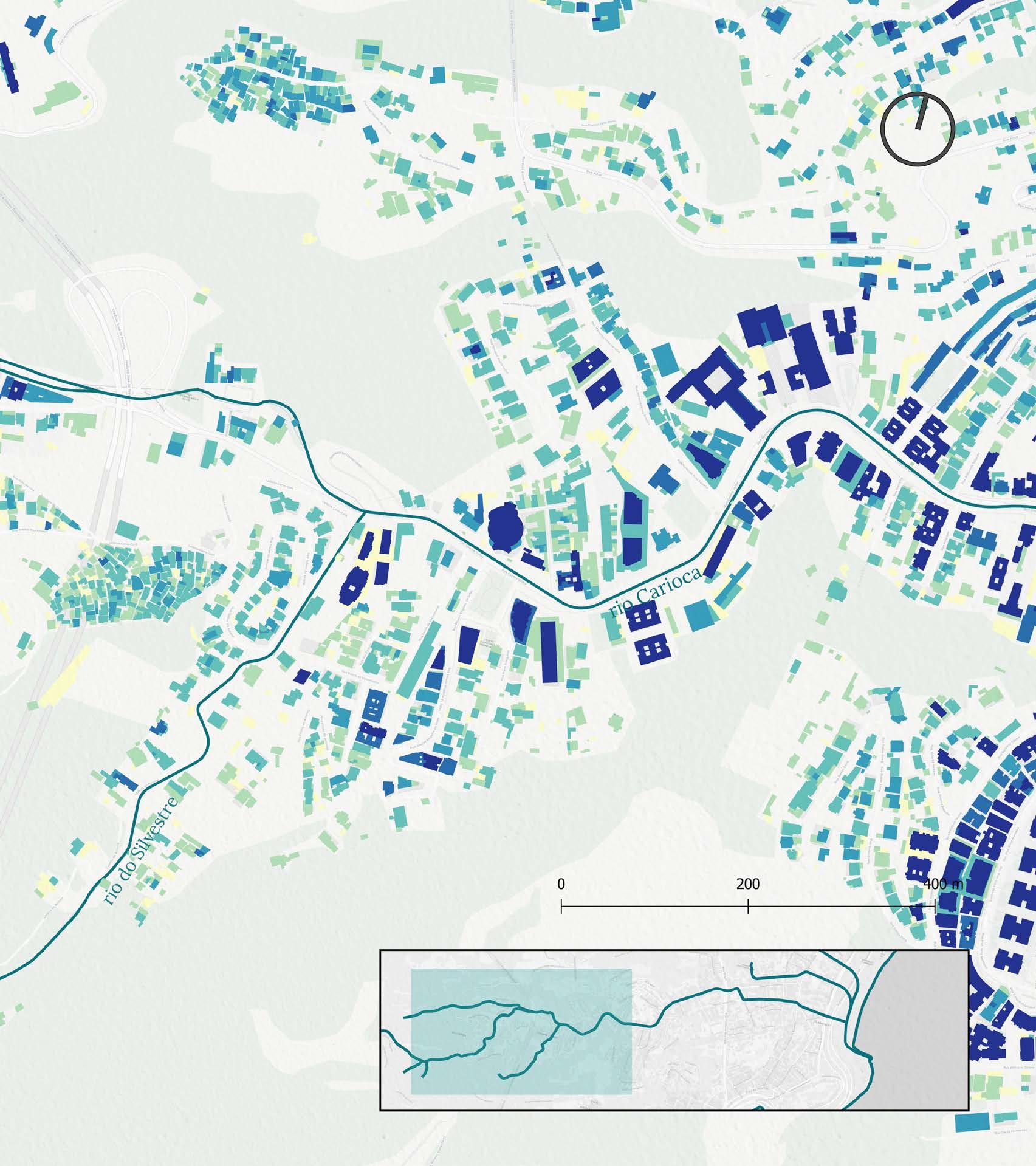

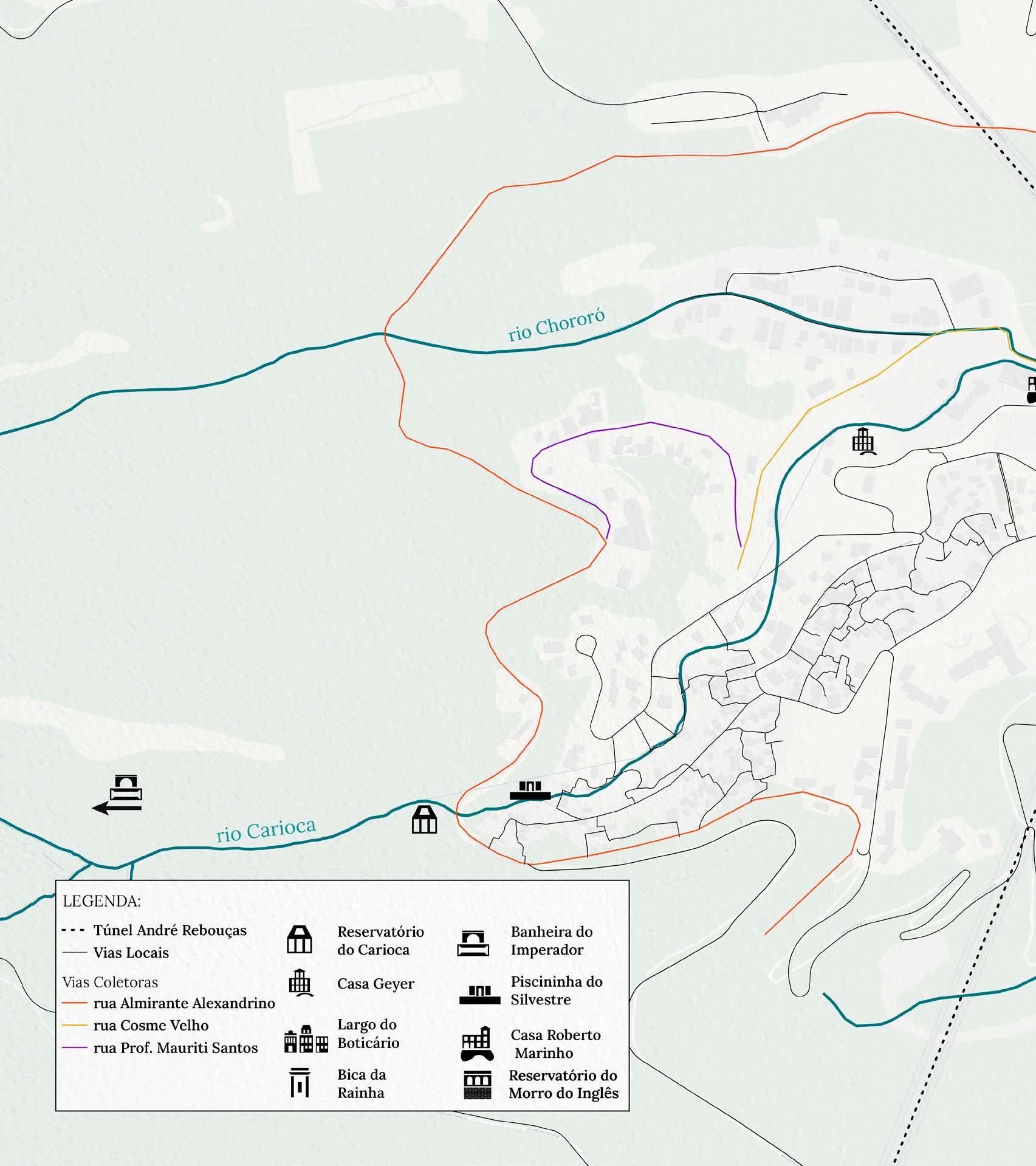


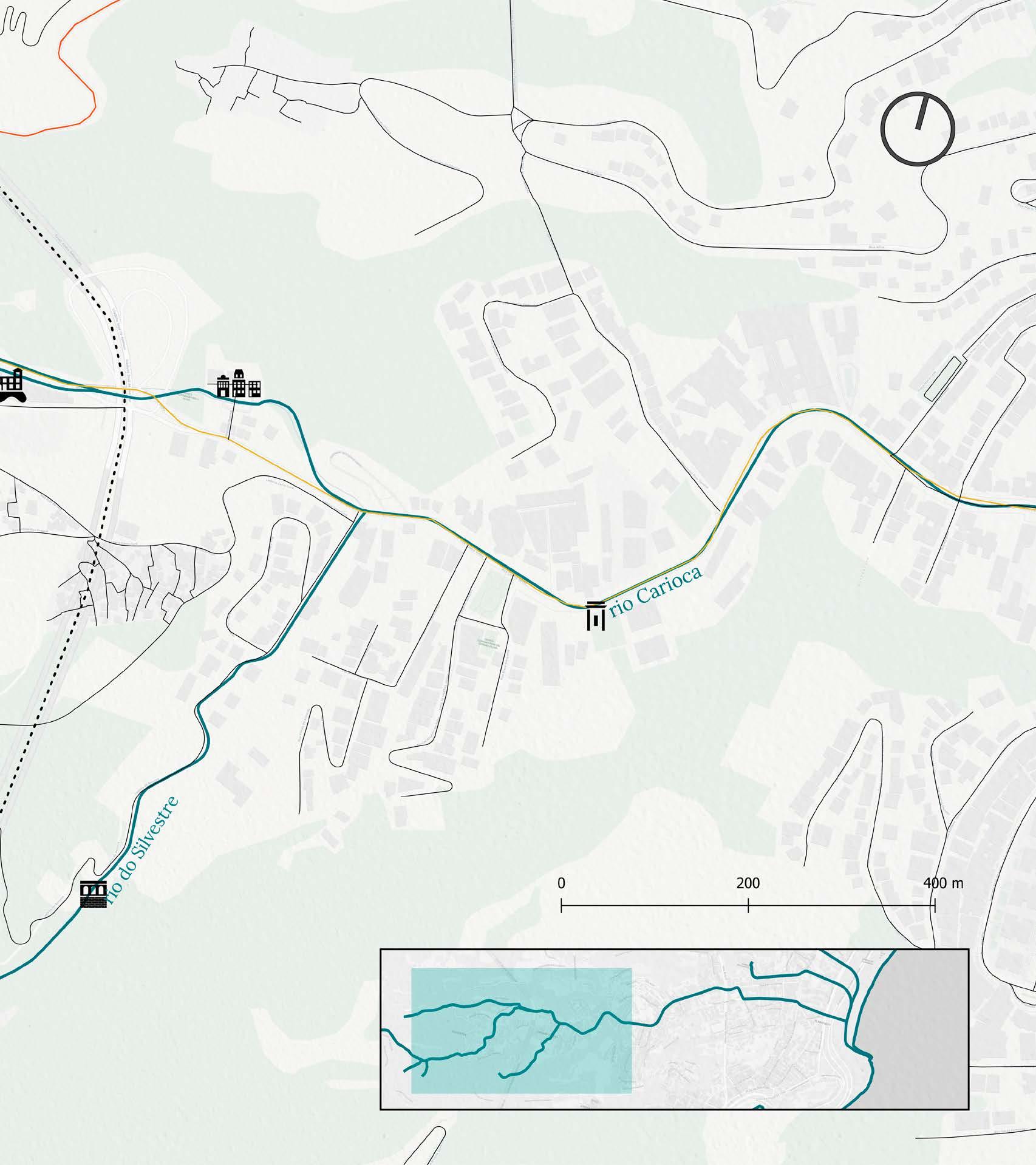
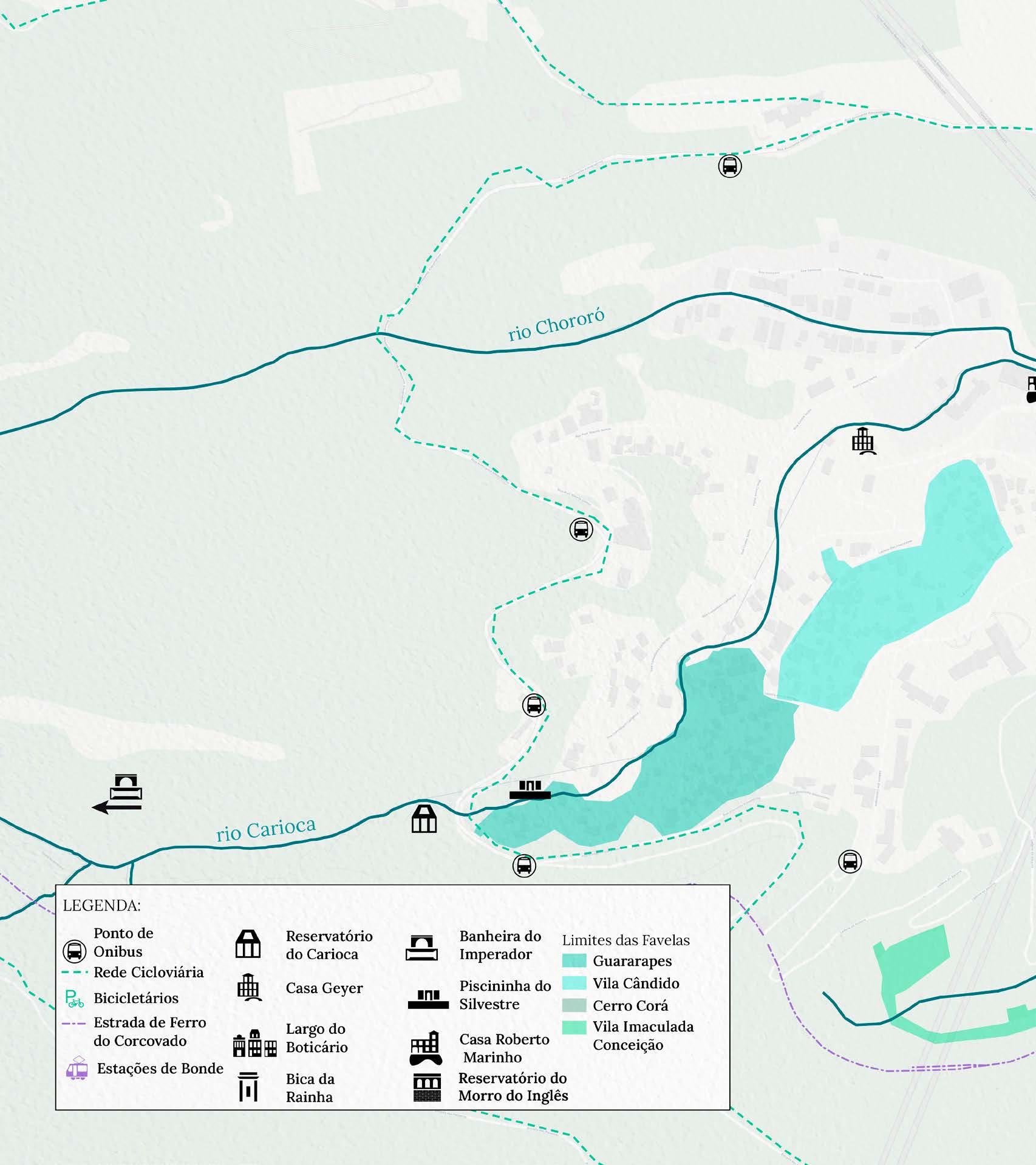

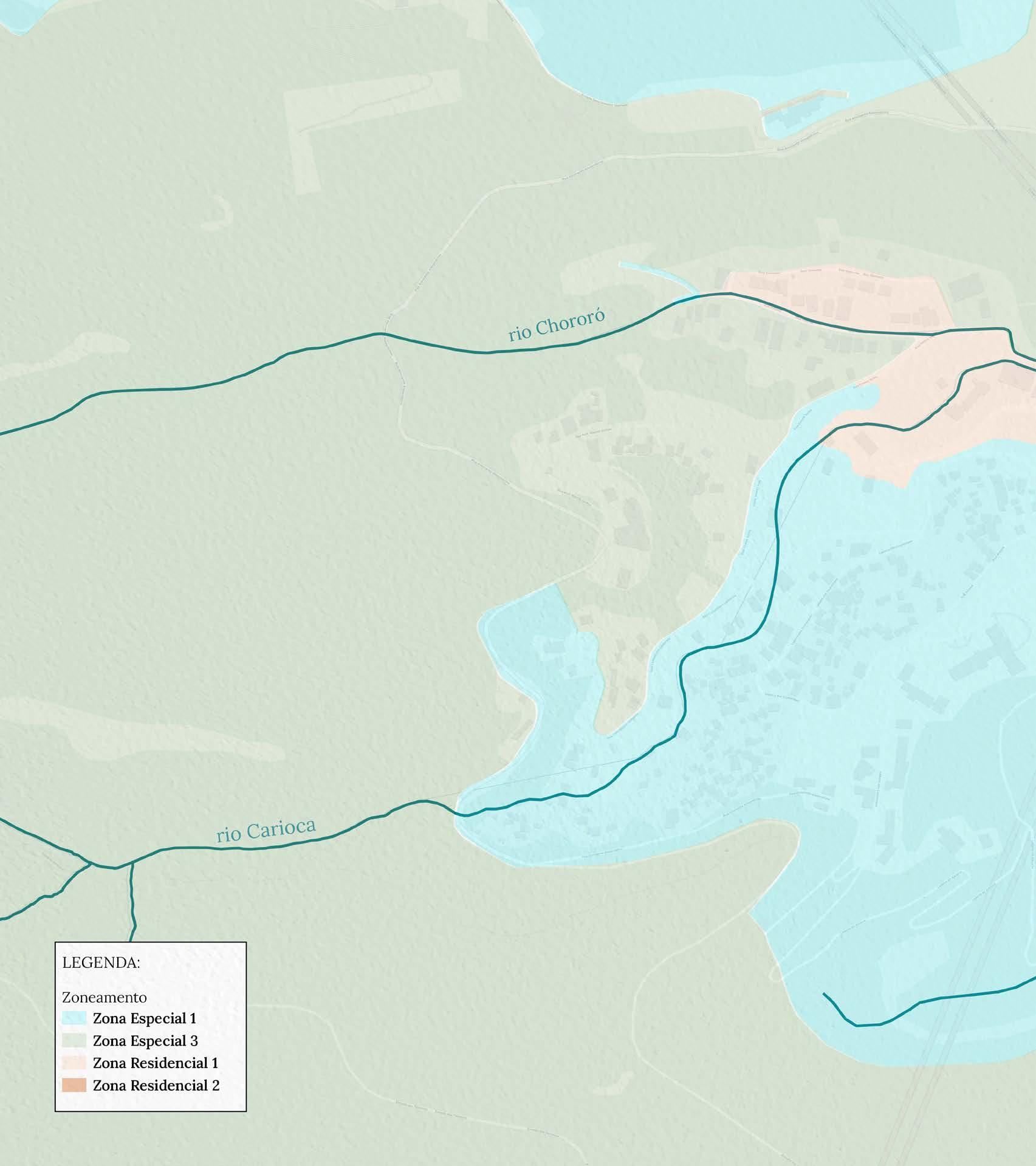

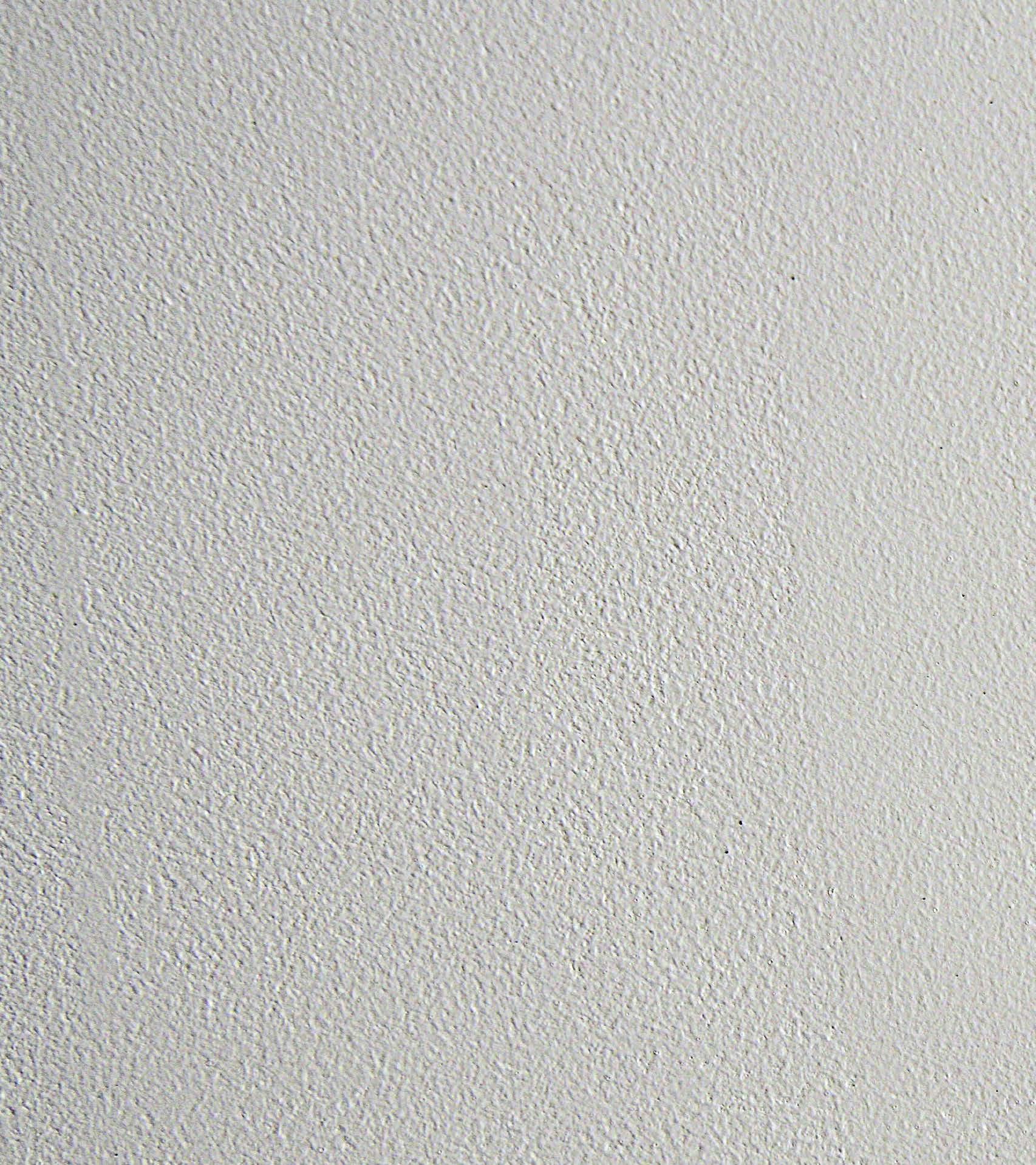
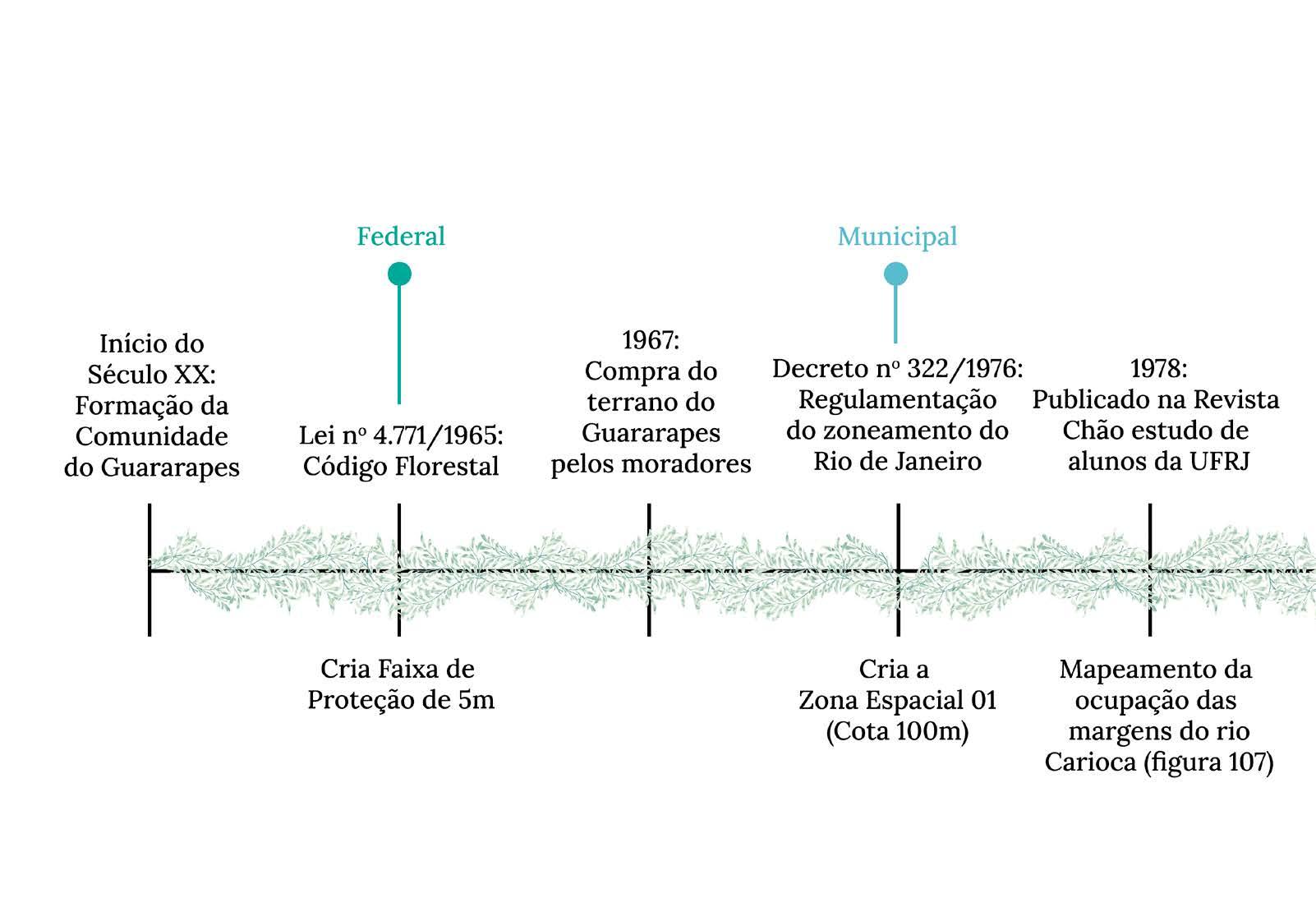 FIGURA 107: Levantamento de Guararapes feito por alunos
FIGURA 107: Levantamento de Guararapes feito por alunos

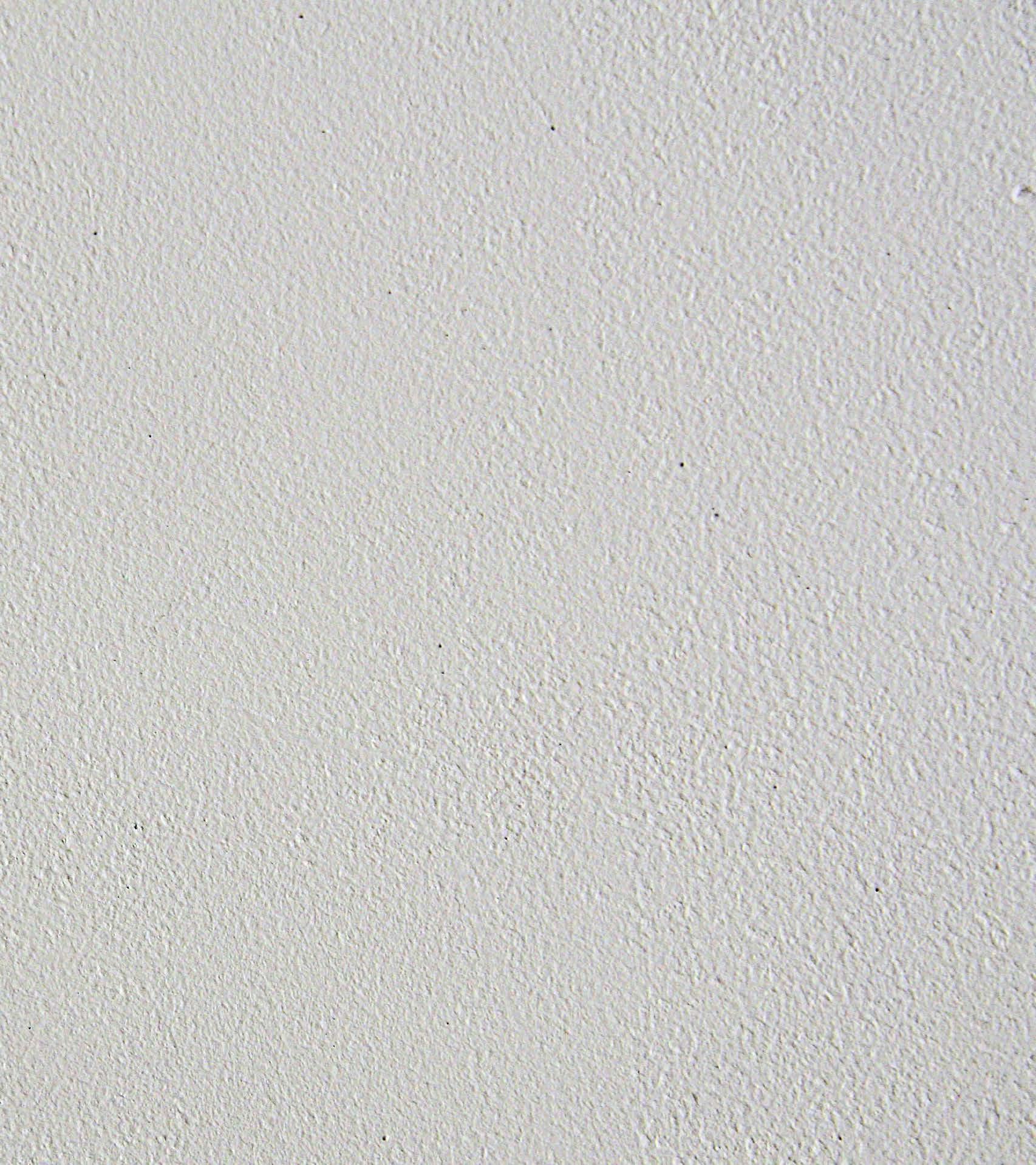

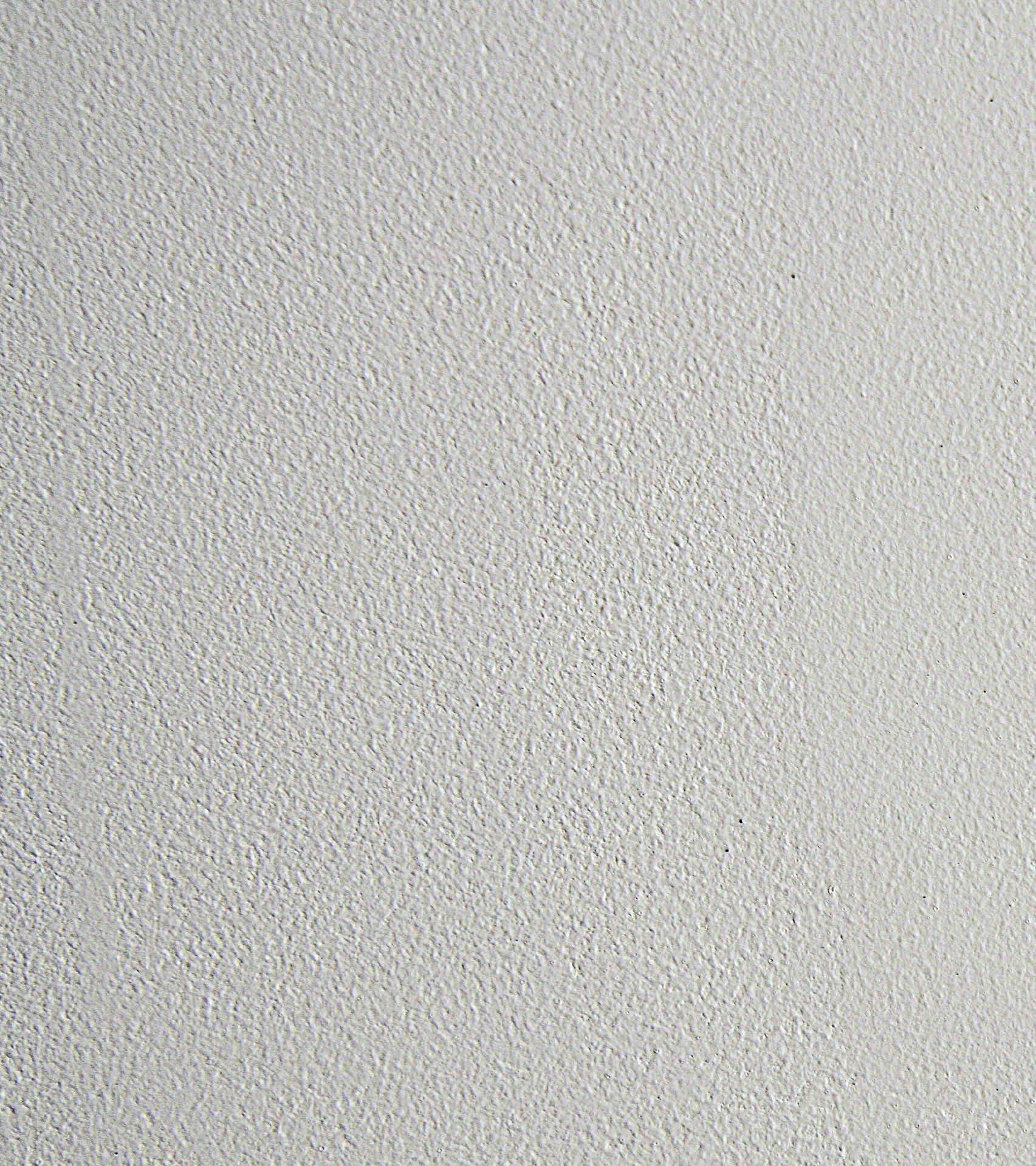

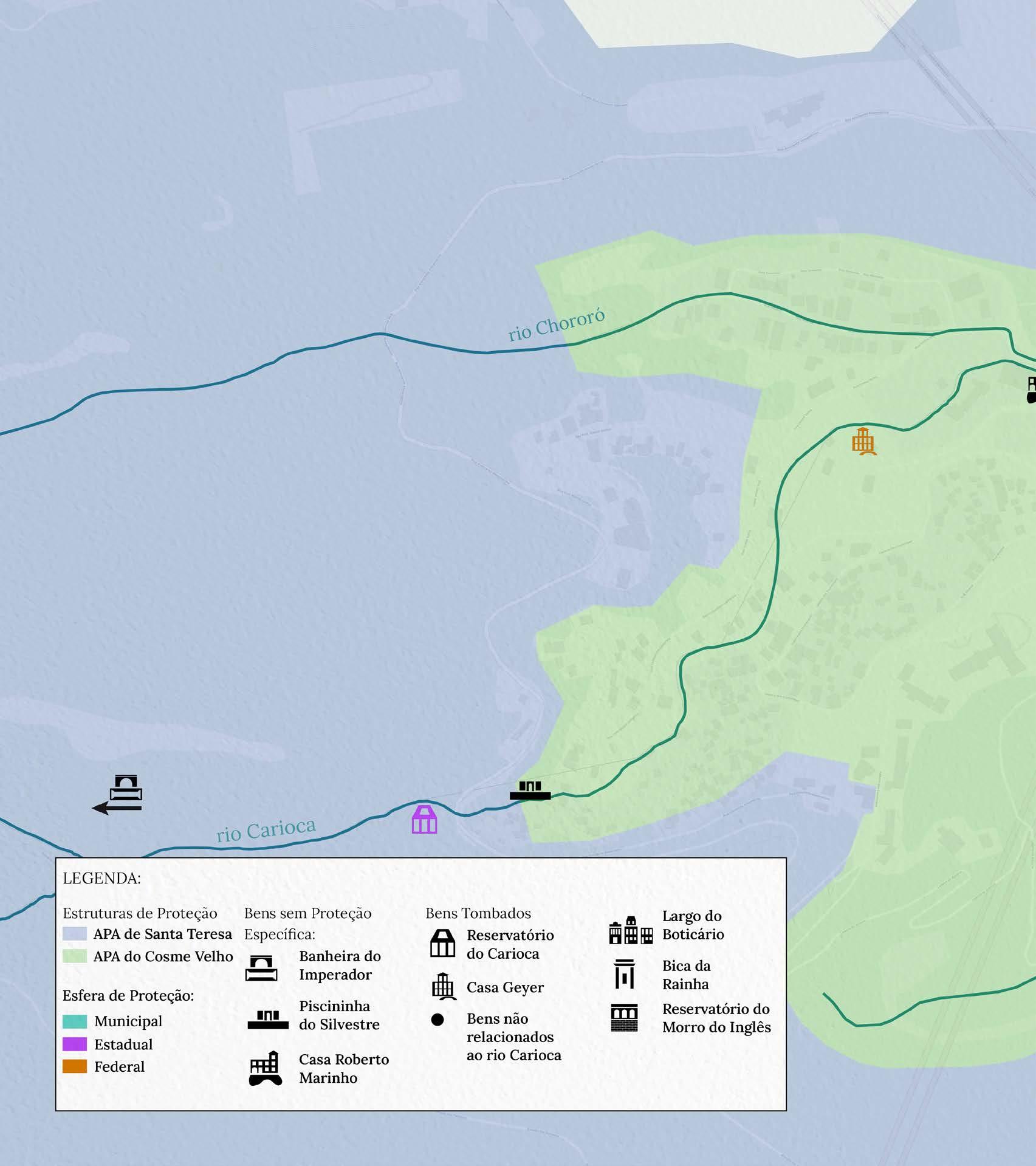
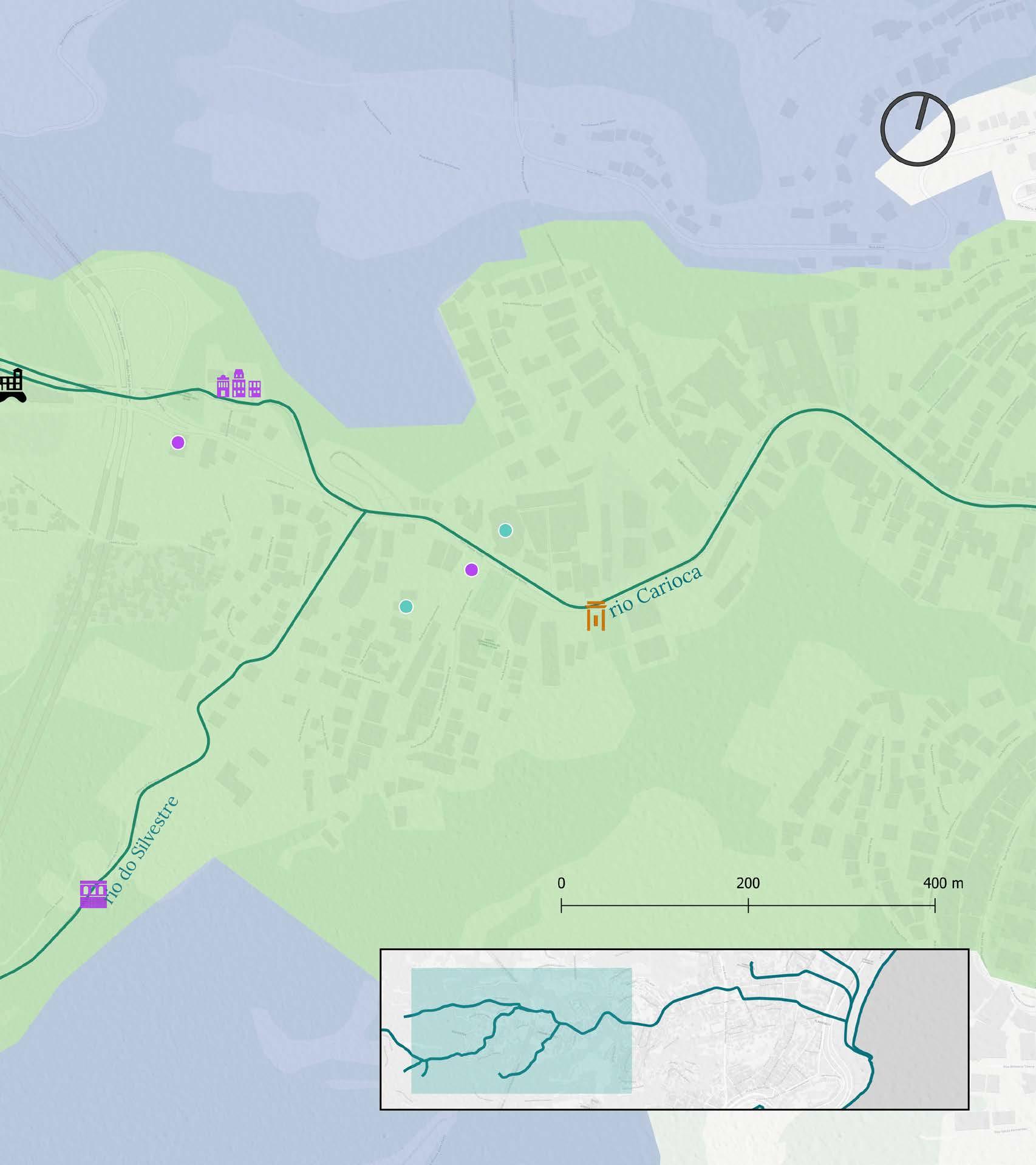

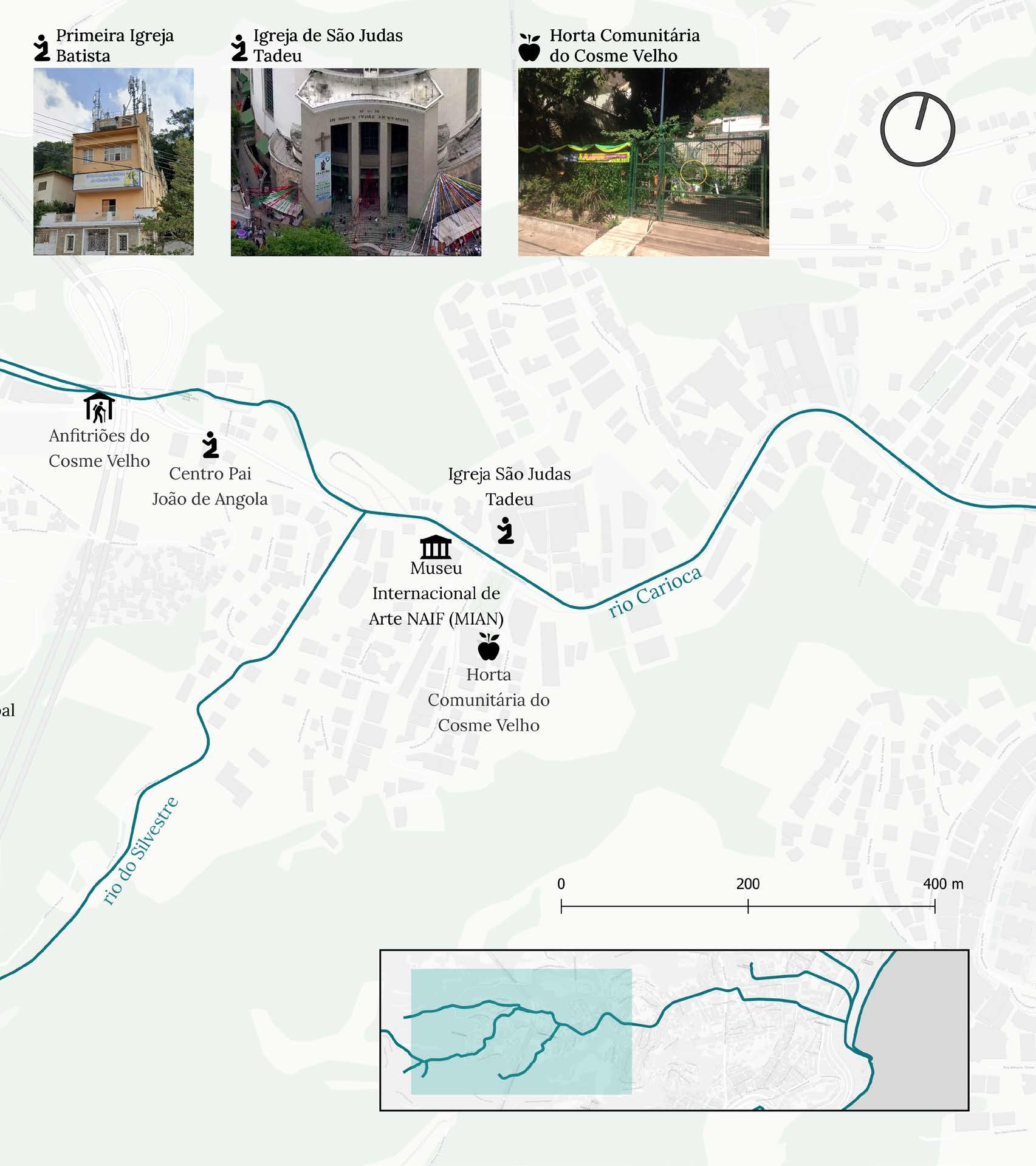


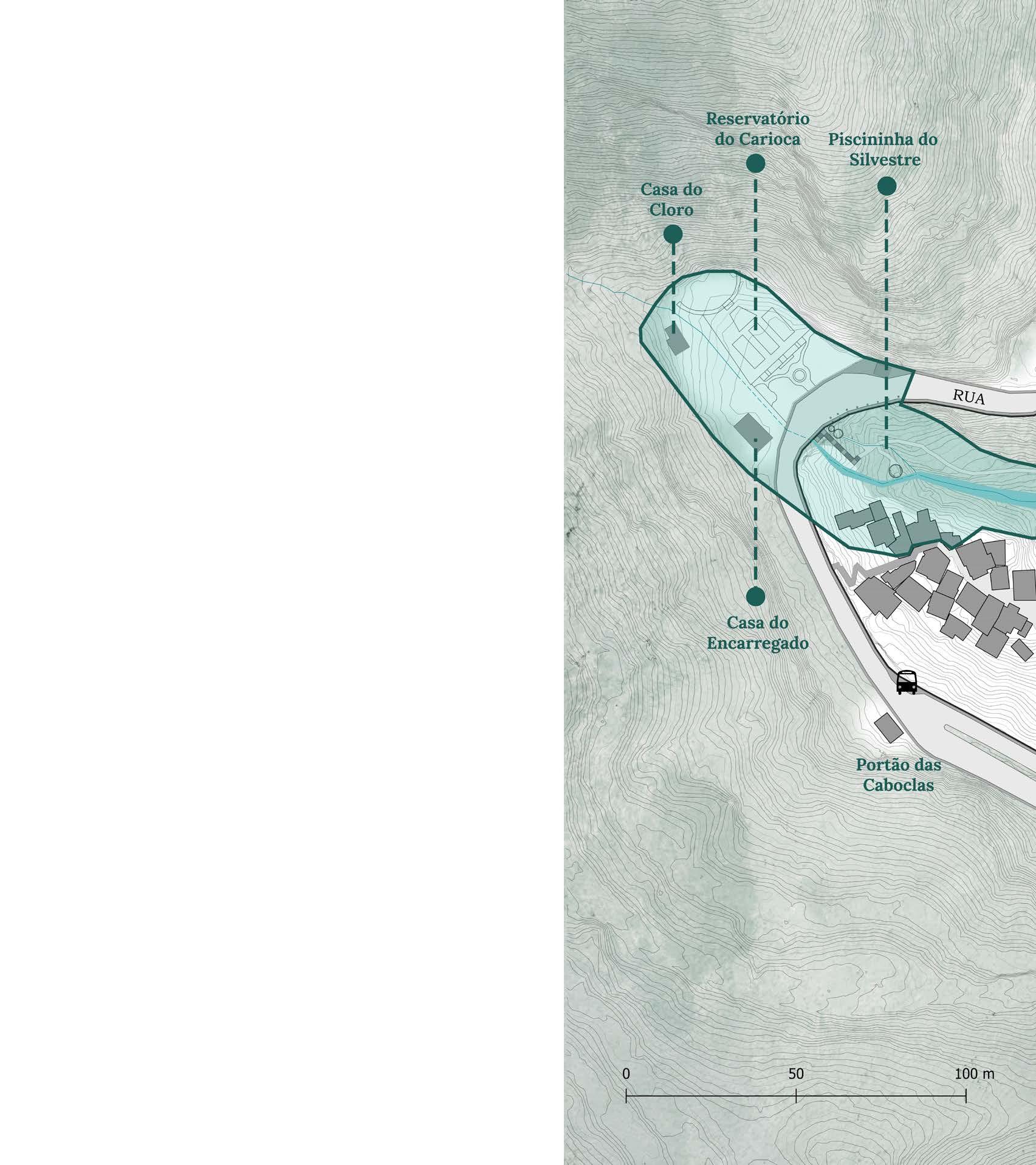


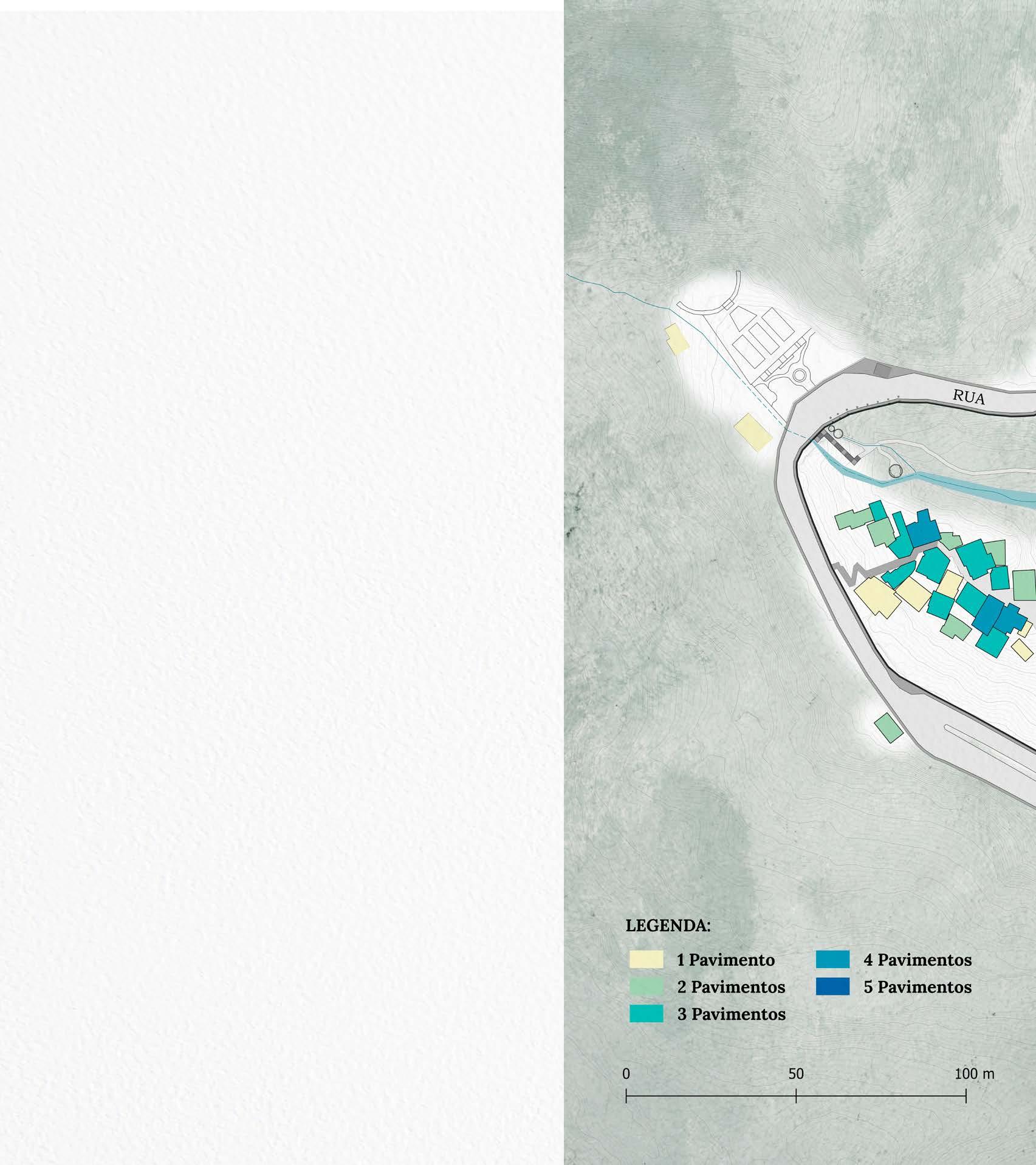

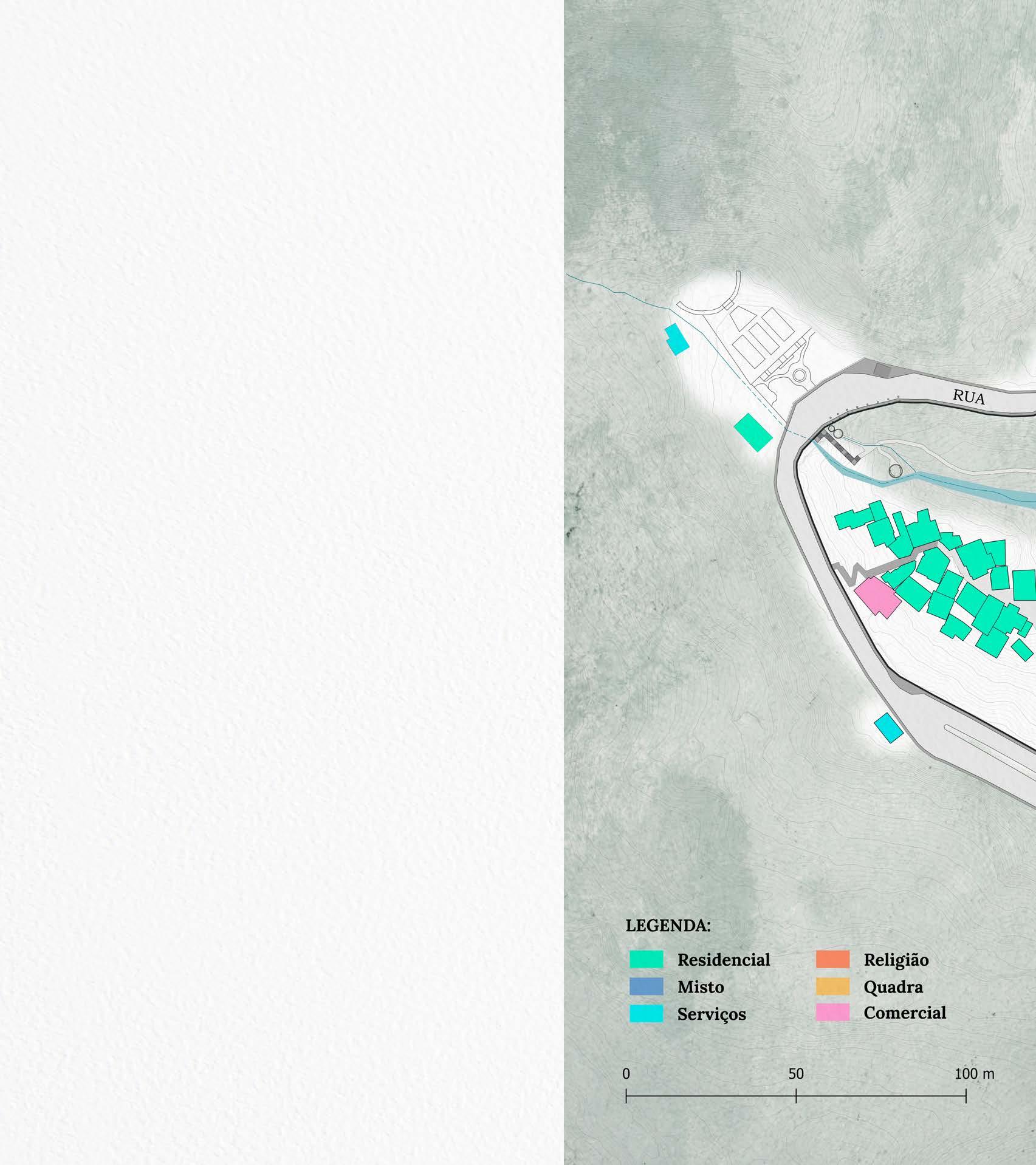



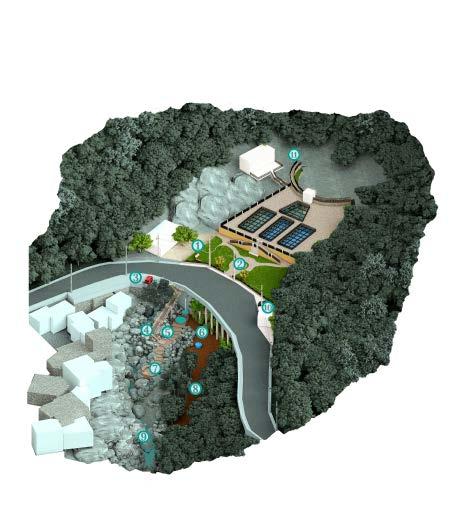

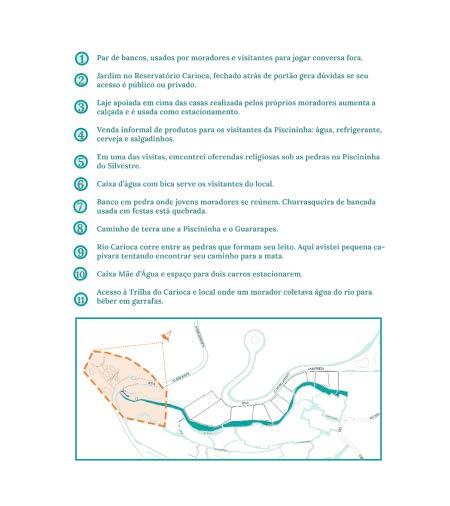
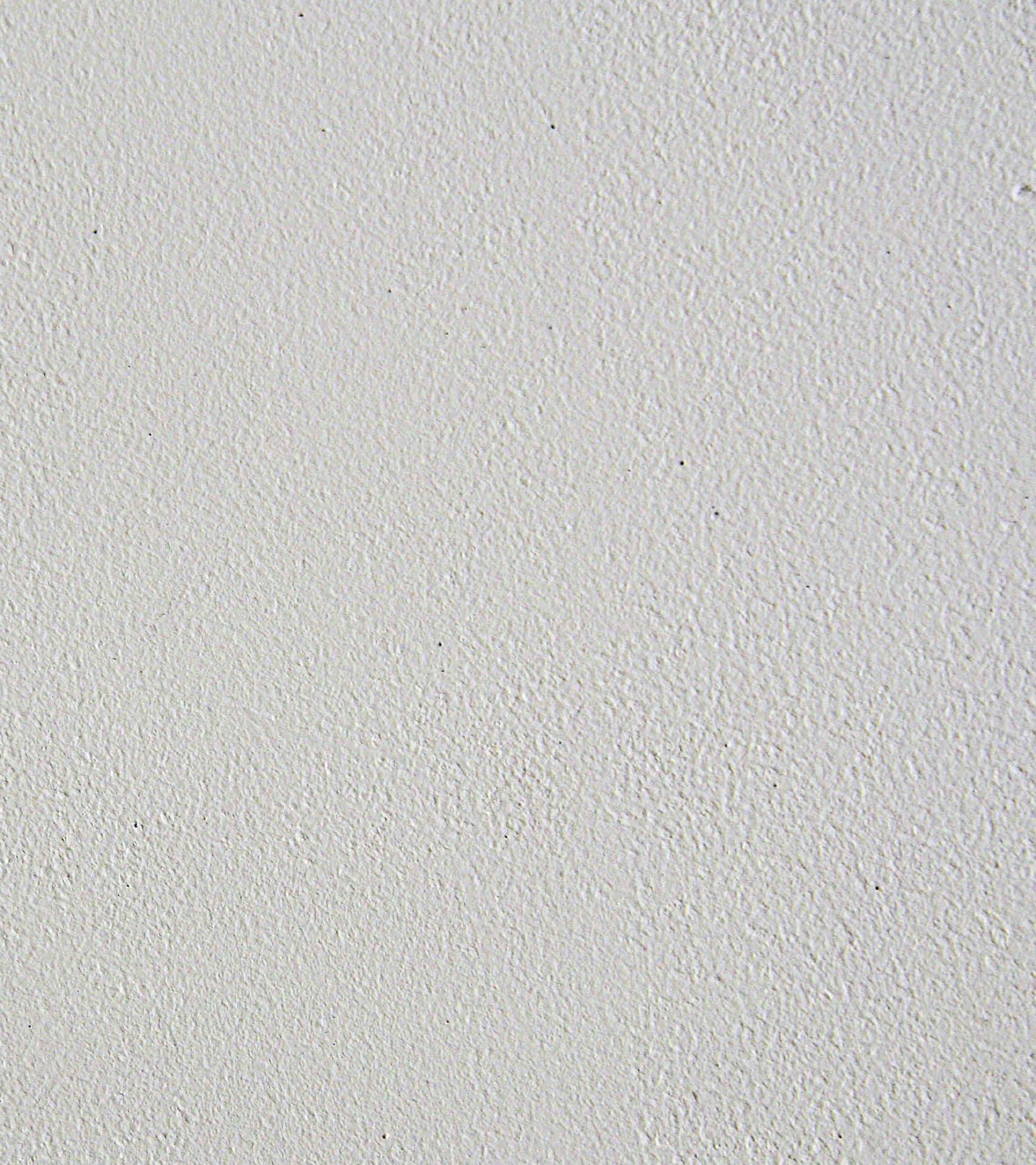
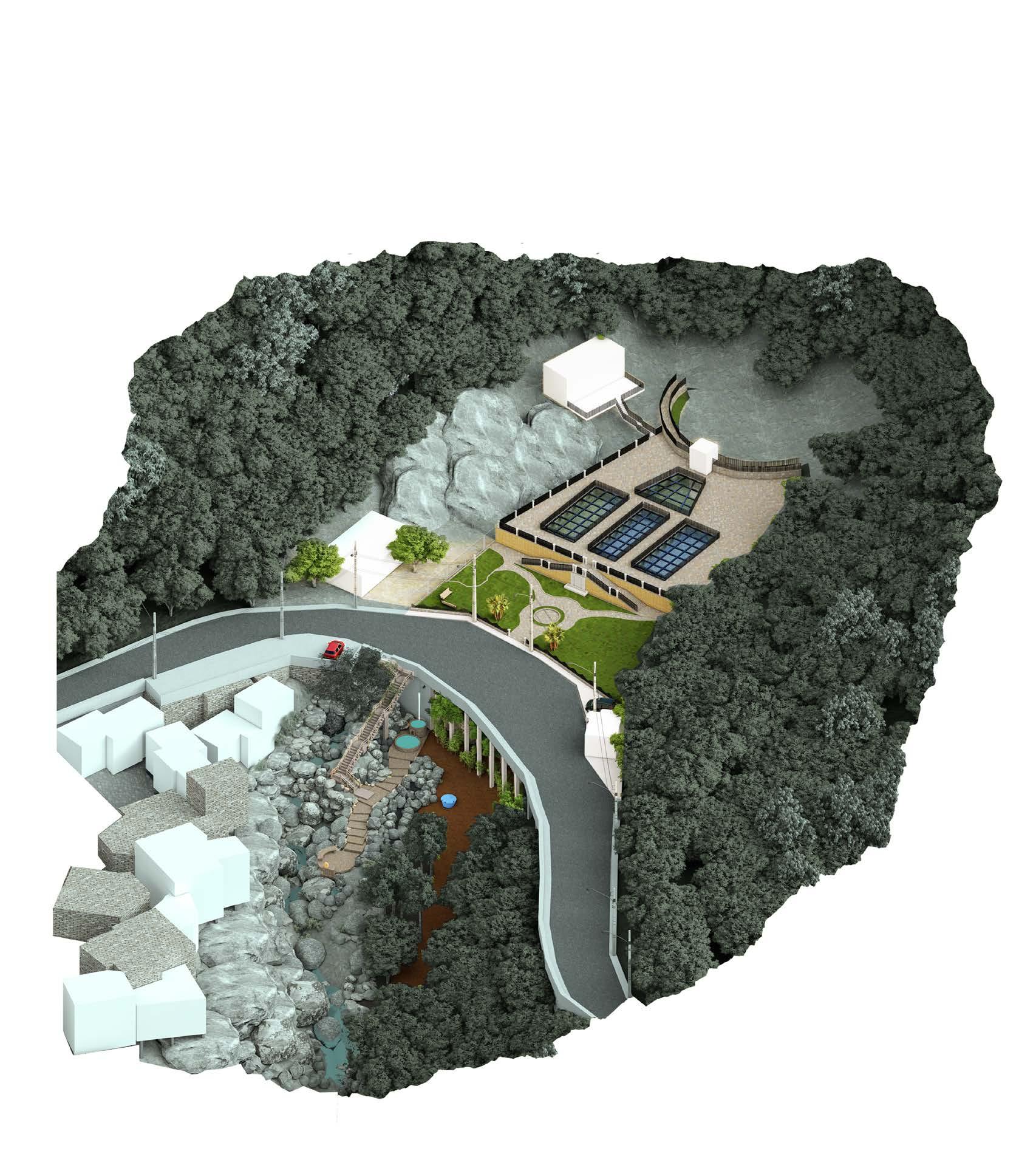


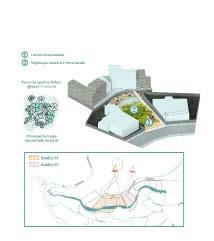
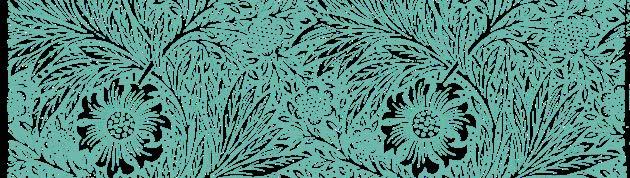



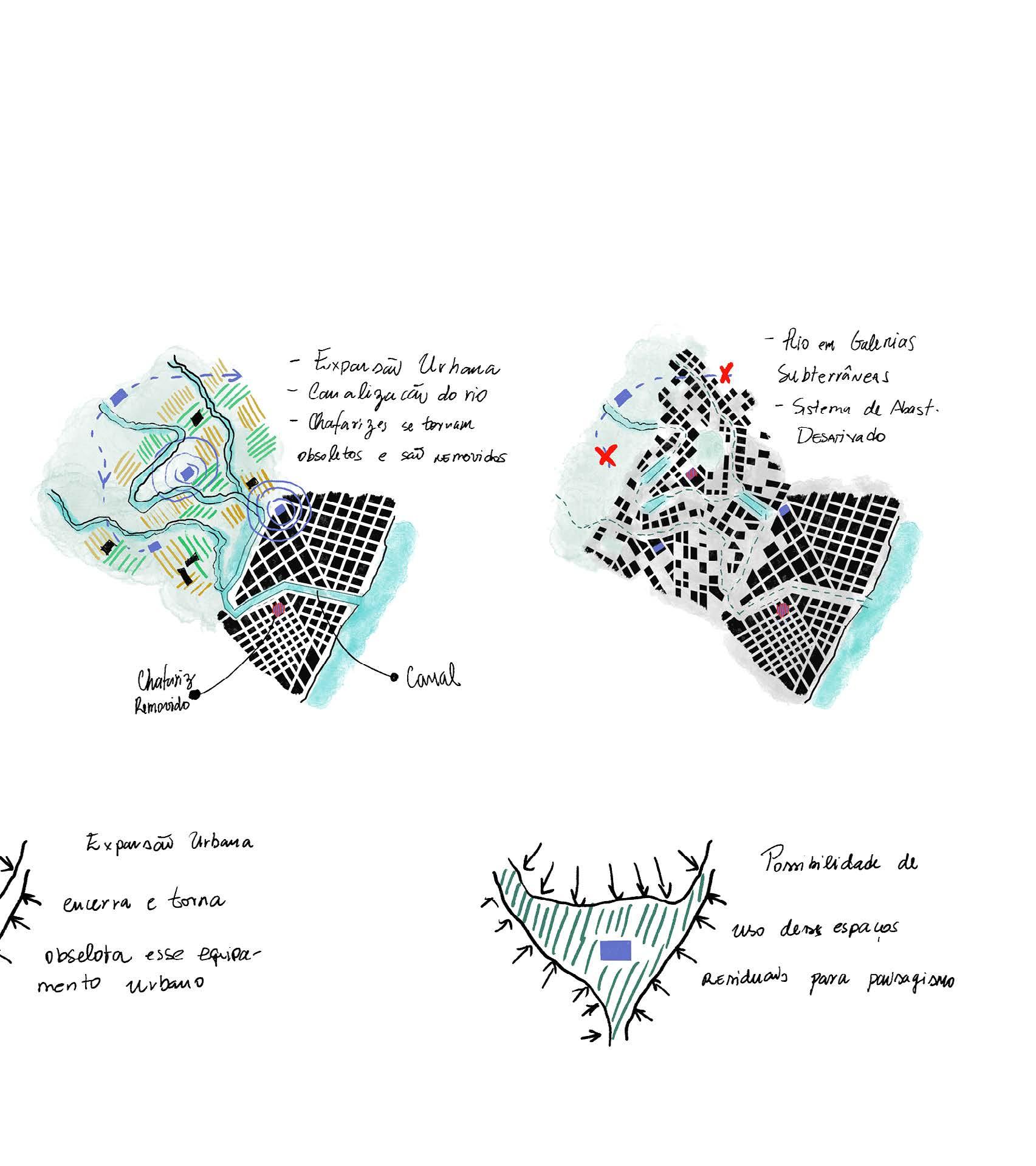




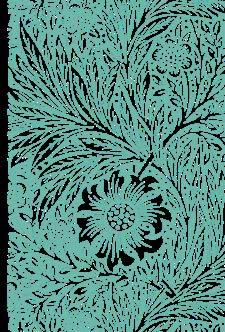
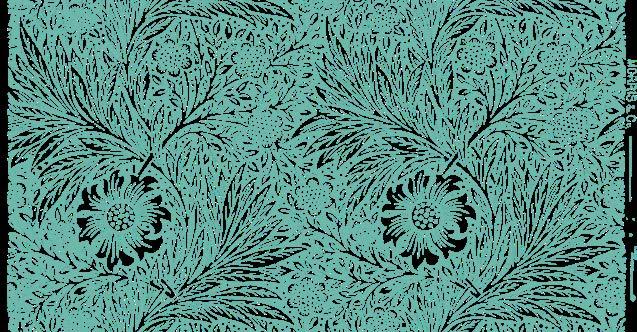



















 FIGURA 139: Crianças da escola local visitam horta na margem do rio Carioca. FONTE: acervo de Lenice Paim.
FIGURA 139: Crianças da escola local visitam horta na margem do rio Carioca. FONTE: acervo de Lenice Paim.




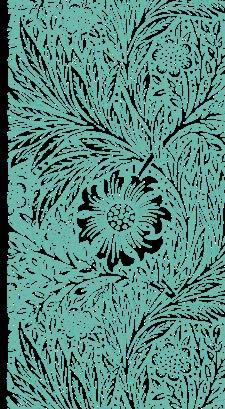





 FIGURA 144: Vista aérea do Parque das Águas de Niterói. FONTE: Google Earth Pro (Acessado
FIGURA 144: Vista aérea do Parque das Águas de Niterói. FONTE: Google Earth Pro (Acessado