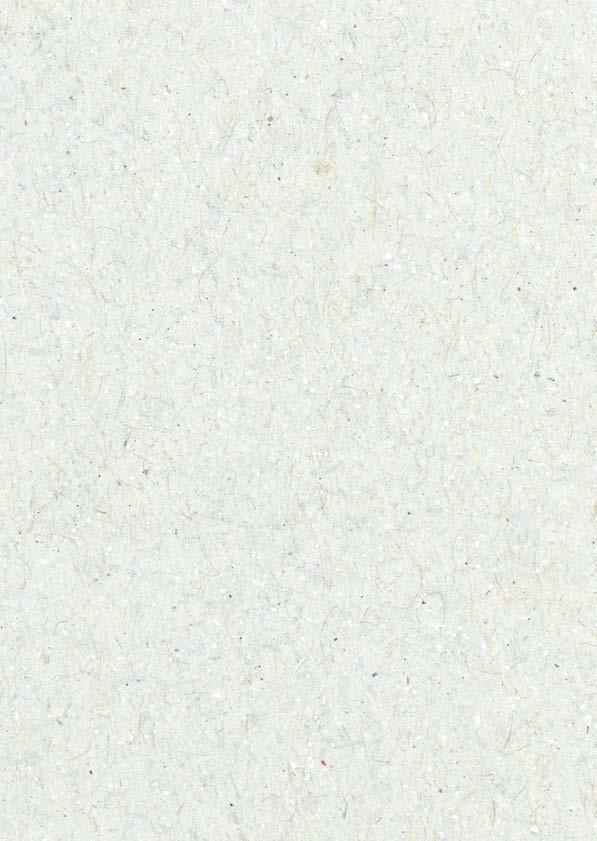5 minute read
A estética modernista nas artes e o Cinema Novo brasileiro .............................................Pág

Advertisement
Modernismo e o cinema nacional.
Modernismo brasileiro eclodiu
Ona primeira metade do século XX a partir da necessidade de uma renovação estética e de conteúdo, afetando produções em múltiplos campos artísticos, como na pintura e literatura (poesia e prosa). Com exceção do filme “Limite”, de Mário de Peixoto, lançado em 1931 que pertence ao movimento modernista, somente trinta anos depois da eclosão do modernismo no brasil que tendências semelhantes foram amplamente atribuídas ao cinema nacional, fato que só foi possível através do movimento Cinema Novo durante a década de 60. Gustavo Batista Gregio em A revolução modernista nas artes e no cinema moderno brasileiro, define que durante o contexto histórico de eclosão do modernismo no Brasil, o cinema ainda existia como uma atividade iniciante, sem formas/padrões estéticos originais definidos. Algo que certamente mudaria de rumo com o cinema novo na década de 60.
Vanguardas europeias e a busca por uma identidade nacional.
O cinema novo surge na década de 60 com ideias centrais análogas às do idealismo modernista, afirmar uma quebra com padrões externos e usá-los (vanguardas) ao mesmo tempo como referência para desenvolver uma estética nacional e essencialmente modernista dentro das artes. Na década de 20, o movimento antropofágico, pertencente à primeira geração do modernismo, teve como principal objetivo promover uma renovação estética dentro das produções literárias/artísticas brasileiras, fazendo isso através da absorção cultural de elementos provenientes dos movimentos das vanguardas européias. No Brasil, grandes nomes do Cinema Novo, como Nelson Pereira dos Santos e Glauber Rocha foram

influenciados pelo neorrealismo italiano de Roberto Rossellini e Vittorio de Sica, pela “nouvelle vague” (nova onda), de Godard e Truffaut no cinema francês e pelas técnicas de montagem do cinema sovietico.

Assim, tanto na literatura quanto no cinema, com o movimento cinemanovista, o termo “antropofagia” se justifica ao configurar a ideia de engolir/absorver esses elementos externos, técnicas e influências, e a partir deles remoldar as produções nacionais, conferindo-as uma nova estética visual, narrativa e literária. O que acaba por também alavancar a desejada exclusão da noção eurocêntrica sobre as obras produzidas em território brasileiro, conferindo a elas maior senso de nacionalidade.
Vidas Secas: romance (38) e película (63)
O romance Vidas Secas (1938), de Graciliano Ramos, explora e denuncia com maestria uma melancólica face da realidade brasileira. Ramos apresenta ao leitor a trajetória de Fabiano e sua família, entretanto, por mais pessoal e íntima que seja a narrativa, esta 10
Fome de que? não deve ser considerada de forma alguma singular e/ou incomum. A renomada obra modernista de Graciliano Ramos faz uso de uma escrita regionalista e aponta de forma aguda para as problemáticas da vida no sertão, da vida pobre no sertão. O romance apresenta uma qualidade segmentada, bem como diz Rubem Braga ao definir a obra como um “romance desmontável” devido a seu caráter fragmentado, como acrescenta Thiago Mio Salla ao dar também importância a ordem e organização definida por Ramos, “O modo como Graciliano articula os capítulos confere unicidade ao todo. Creio que perdem força se lidos em separado, sobretudo quando se considera o caráter a um só tempo caleidoscópico e cíclico da obra. Ou seja, a família foge da seca no início e ao final do livro.” Essa característica fragmentada aproxima ainda mais o romance de sua realidade cinematográfica com a adaptação de 1963 de Nelson Pereira dos Santos, diretor cinemanovista que adaptou a obra de Ramos e a dirigiu para a tela gran-

de, transportando Fabiano e sua jornada, da página para a película. É possível dizer que o tema central do romance, e posteriormente do filme de 63, é ditado pela necessidade humana mais básica, a fome, esta é apresentada na narrativa como uma personagem, assim como a seca.
Glauber Rocha e a Eztetyka da Fome.

Glauber Rocha, considerado o diretor mais influente do movimento, é responsável pelo manifesto mais importante do cinema brasileiro, este intitulado Uma estética da fome, foi apresentado pelo cineasta baiano em 1965 durante o congresso Terceiro Mundo e Comunidade Mundial, em Gênova, Itália. Neste manifesto, Glauber sumariza o contexto e intenções do Cinema novo, apresentando para o público internacional uma justificativa da estética cinemanovista, explicando também como surge a necessidade da existência de tal estética e qual seu objetivo como ferramenta de mudança social, encontrando na fome a originalidade estética almejada pelo movimento, somada também a estética da violência como manifestação cultural da fome, expressa pela relação explorador e explorado. Em Deus e o diabo na terra sol de 1964, filme mais influente do diretor baiano, Glauber coloca em prática toda a construção estética e temática desenvolvida pelo Cinema novo, trazendo para a tela uma narrativa, como dito por ele mesmo, feia, crua, visceral e cruel, mas talvez o melhor adjetivo a se usar seja “real”. Glauber retrata com maestria a relação do explorador e do explorado, da fome e de sua principal consequência, a violência, que segundo Rocha, existe como uma manifestação cultural da fome. Esta violência, além de fatal e sangrenta, é principalmente um sintoma de uma doença grave, é um problema político que Glauber fotografa e denuncia com certa urgência. A fim de se entender a visão cinemanovista na década de 60 é importantíssimo assimilar a relação do cinema com o público e como a arte era recepcionada por esse espectador,

A estética modernista nas artes e o Cinema Novo brasileiro seja ele brasileiro ou estrangeiro. Para Rocha, a representação cinemanovista da estética da fome e o mundo ao qual ela se insere, não devem ser confundidas com um estranho “surrealismo tropical”, como de fato era visto pelo público europeu da época. Contudo, essa estética da fome representada na película, parte como um manifesto político-social, anti exploração, como forma de resistência e luta contra o colonizador, que de forma incansável estabelece sua influência, padronização e sistematização dentro da arte. Portanto, através da lente e do celulóide de grandes mentes do cinema brasileiro, tornou-se possível transformar a arte que vigorava, tornando-a mais verossímil à realidade miserável, dando vida ao famoso bordão do movimento, dito por Glauber Rocha: “Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça”.



Estímulo à Agroecologia e Agricultura Familiar. Somos uma associação sem fins lucrativos que promove o acesso a produtos orgânicos de maneira transparente e sustentável: sem agrotóxicos e sem especulação.
Nossa proposta é estabelecer relações comerciais justas com todos os atores da cadeia produtiva, conectando quem produz com quem consome.
Contato: institutofeiralivre@gmail.com https://www.facebook.com/institutofeiralivre/ https://www.instagram.com/institutofeiralivre/